



Biblio VT




As duas raparigas eram vulgarmente conhecidas pelos seus apelidos, Banford e March. Juntas, tinham tomado conta da quinta, pretendendo fazê-la funcionar sem a ajuda de ninguém: ou seja, dispunham-se a criar galinhas, sobreviver com a venda das aves, e, além disso, arranjar uma vaca e criar um ou dois novilhos. Infelizmente, as coisas não lhes correram bem.
Banford era pequena, magra, uma figurinha delicada com uns óculos. Contudo, era a principal investidora, já que March pouco ou nenhum dinheiro tinha. O pai de Banford, que era negociante em Islington, deu à filha uma ajuda inicial, primeiro a pensar na sua saúde e depois porque a amava, além de que não lhe parecia provável que ela algum dia se viesse a casar. March era mais robusta. Aprendera carpintaria e marcenaria em Islington, num curso nocturno que aí frequentara. Seria ela o homem da casa. Além do mais, o velho avô de Banford viveu com elas nos primeiros tempos. Outrora, tinha sido lavrador. Mas, infelizmente, o velho morreu passado um ano de estar com elas em Bailey Farm. E então as duas raparigas ficaram sozinhas.
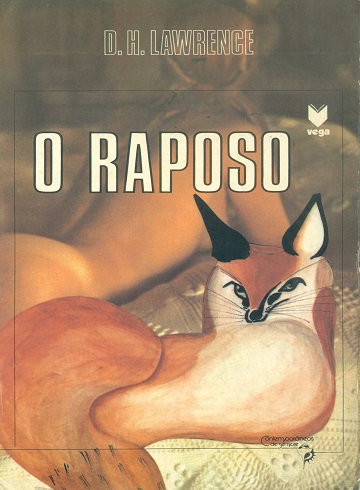
Nenhuma delas era nova: isto é, andavam à volta dos trinta. Mas é claro que não eram velhas. E meteram mãos à obra com grande coragem. Tinham inúmeras galinhas, Leghorns pretas e brancas, Plymouths e Wyandots; também tinham alguns patos e duas vitelas nos campos de pastagem. Infelizmente, uma delas recusou-se em absoluto a permanecer nos cercados de Bailey Farm. Fosse como fosse que March fizesse as vedações, a vitela arranjava sempre forma de fugir, correndo, selvagem, pelos bosques ou invadindo as pastagens vizinhas, pelo que March e Banford andavam sempre por fora, a correr atrás dela com mais cansaço do que sucesso. Assim, desesperadas, acabaram por vender a vitela. E precisamente antes de o outro animal estar para ter o seu primeiro vitelo, o velho morreu, pelo que as raparigas, receosas do parto iminente, o venderam em pânico, limitando doravante as suas atenções às galinhas e aos patos.
A despeito de um certo pesar, não deixou de ser um alívio não terem de cuidar de mais gado. A vida não servia apenas para ser passada a trabalhar. Ambas as raparigas concordavam neste ponto. As aves já eram preocupação
8
que chegasse. March instalara a sua bancada de carpinteiro ao fundo do telheiro. E aí trabalhava, fazendo armações de galinheiro, portas e outros elementos. As aves tinham sido colocadas no edifício maior, o qual servira outrora de celeiro e estábulo. Tinham uma casa magnífica, pelo que deveriam estar bastante satisfeitas. Na verdade, pareciam bastante bem. Mas as raparigas andavam aborrecidas com a tendência das aves para apanharem estranhas doenças, com a exasperante exactidão do seu modo de vida e com a sua recusa, recusa constante, obstinada, em porem ovos.
March fazia a maior parte do trabalho não doméstico. Quando estava por fora, nas suas andanças, vestida com umas grevas e uns calções, com o seu casaco cintado e um boné largo, quase que parecia um qualquer rapaz, ar agradável, porte indolente, bamboleante, devido aos seus ombros direitos e aos movimentos fáceis, confiantes, com alguns laivos até de indiferença ou ironia. Contudo, o seu rosto não era um rosto de homem. Quando curvada, o cabelo, negro e encaracolado, esvoaçava em madeixas à sua volta; quando direita, voltando a olhar em frente, havia nos seus olhos negros, olhos grandes, arregalados, um brilho estranho, misto de espanto,
timidez e sarcasmo ao mesmo tempo. E também a boca se mostrava crispada, como que por dor ou ironia. Havia nela qualquer coisa de estranho, de inexplicável. Podia quedar-se apoiada numa só anca, observando as aves que perambulavam pela lama fina, repugnante, do pátio em declive, chamando depois a sua galinha favorita, uma galinha branca que respondia pelo nome, vindo a saltitar até junto dela. Mas havia uma espécie de lampejo satírico nos grandes olhos negros de March quando fitava aqueles seres de três dedos que andavam de cá para lá sob o seu olhar atento, notando-se na voz o mesmo tom de ameaça irónica sempre que falava com Patty, a favorita, a qual bicava a bota de March numa amigável demonstração de amizade.
Mas, apesar de tudo o que March fazia por elas, as aves não eram uma criação florescente em Bailey Farm. Quando, de acordo com os regras, começou a dar-lhes comida quente pela manhã, reparou que esta fazia com que ficassem pesadas e sonolentas durante horas. Ela quedava-se, expectante, vendo-as encostadas aos pilares do barracão durante o seu lento processo digestivo. E sabia muito bem que elas deviam andar atarefadas a esgravatar e a debicar por aqui e por ali, isto para haver esperanças de virem a tornar-se de alguma valia. Assim, decidiu passar a dar-lhes a comida quente só à noite, deixando que a digerissem durante o sono. E assim fez. Só que isso não surtiu qualquer efeito.
Por outro lado, os tempos de guerra em que viviam eram bastante desfavoráveis à criação de aves. A comida era escassa e má. E quando o Daylight Saving Bill1 entrou em vigor, as aves recusaram-se obstinadamente a ir dormir à hora habitual, por volta das nove no tempo de Verão. E, na verdade, isso já era bastante tarde, pois até elas estarem recolhidas e a dormir era impossível ter-se paz. Agora, andavam animadamente às voltas por ali, limitando-se de quando em vez a relancear os olhos para o celeiro, isto até por volta das dez horas ou mais. Mas tanto Banford como March discordavam de que a vida fosse só para trabalhar. Gostariam de ter tempo para ler ou para andar de bicicleta à tardinha, ou talvez mesmo March desejasse poder pintar cisnes curvilíneos em porcelanas de fundo verde ou fazer maravilhosos guarda-fogos através de processos do domínio da alta técnica da marcenaria. Pois ela era uma criatura cheia de estranhas fantasias e tendências insatisfeitas. Mas as estúpidas das aves impediam-na de tudo isso.
E havia um mal bem pior que tudo o resto. Bailey Farm era uma pequena fazenda com um velho celeiro de madeira e uma casa baixa, de telhado de empena, apenas separada da orla do bosque por um pequeno campo. Ora, desde a guerra que rondava por ali um raposo, raposo que se revelara um autêntico demónio. Apoderava-se das galinhas mesmo debaixo do nariz de March e Banford. Banford bem podia sobressaltar-se e olhar atentamente através dos seus grandes óculos, os olhos muito arregalados, ao levantar-se a seus pés um novo alvoroço de grasnidos, cacarejos e adejar de asas. Demasiado tarde! Outra galinha branca que se fora, outra Leghorn perdida. Era, de facto, desencorajador.
Elas fizeram o que puderam para remediar o caso. Quando chegou a época da caça às raposas, ambas passaram a postar-se de sentinela com as suas espingardas, escolhendo as horas preferidas pelo rapinante. Mas isso de nada lhes valeu. O raposo era demasiado rápido para elas. E assim se passou mais um ano, depois outro, enquanto elas continuavam a viver dos prejuízos, como Banford dizia. Um Verão, alugaram a sua casa da quinta e foram viver para um vagão ferroviário existente numa das extremidades do campo, ali deixado para servir como uma espécie de barracão de arrecadações. Isto divertiu-as, além de as ajudar a pôr as finanças em ordem. Não obstante, as coisas continuavam feias.
Ainda que continuassem a ser as melhores amigas do mundo, já que Banford, apesar de nervosa e de delicada, era uma alma quente e generosa, e March, apesar de parecer tão estranha e ausente, sempre tão concentrada em si mesma, se revelava dotada de uma curiosa magnanimidade, começaram, contudo, a descobrir, naquela longa solidão, uma certa tendência para se irritarem uma com a outra, para se cansarem uma da outra. March tinha quatro quintos do trabalho a seu cargo, e, apesar de não se importar, nunca conseguia ter descanso, pelo que nos seus olhos havia, por vezes, um curioso relampejar. Então, se Banford, sentindo os nervos mais esgotados do que nunca, tivesse um ataque de desespero, March falar-lhe-ia com rispidez. De algum modo, pareciam estar a perder terreno, a perder a esperança à medida que os meses iam passando. Ali sozinhas nos campos junto ao bosque, com toda aquela vasta região estendendo-se, profunda e sombria, até às colinas arredondadas do White Horse, perdidas na distância, pareciam ter de viver demasiado desligadas de si mesmas. Não havia nada que as animasse. E não havia esperança.
O raposo punha-as realmente exasperadas. Assim que deixavam as aves sair, ao alvorecer dos dias de Verão, tinham de ir buscar as armas e de ficar de guarda; e tinham de voltar ao mesmo assim que o entardecer se avizinhava, retomando os seus postos de sentinela. E ele era tão manhoso, tão dissimulado! Rastejava ao longo da erva alta, tão difícil de ver como uma serpente. Parecia mesmo evitar deliberadamente as raparigas. Uma ou duas vezes, March conseguira vislumbrar-lhe a ponta branca da cauda, por vezes mesmo a sua sombra avermelhada por entre a erva alta, e disparara sobre ele. Mas o raposo não ligara nenhuma ao sucedido.
Uma tarde, March estava de costas contra o sol, já a pôr-se no horizonte, com a arma debaixo do braço e o cabelo oculto sob o boné. Estava meio vigilante, meio absorta, perdida nos seus pensamentos. Aliás, tal estado era em si uma constante. Tinha os olhos abertos e vigilantes, mas lá bem no fundo da mente não tomava consciência daquilo que estava a ver. Deixava-se sempre cair neste estranho estado de alheamento, a boca ligeiramente crispada. Era um problema saber se estava realmente ali, de consciência desperta para o presente, ou muito longe daqueles locais.
As árvores na orla do bosque, de um verde--acastanhado, surgiam como uma mancha escura ressaltando à luz crua do dia; estava-se em fins de Agosto. Ao fundo, os tons acobreados dos troncos e ramos nus dos pinheiros refulgiam no ar. Mais perto, a erva selvagem, com os seus longos caules acastanhados e rebrilhantes, estava toda banhada de claridade. As galinhas andavam por ali, enquanto os patos estavam ainda a nadar na lagoa por debaixo dos pinheiros. March olhava para tudo aquilo, via tudo aquilo sem realmente se dar conta de nada. Ouviu Banford a falar às galinhas, lá ao longe, mas foi como se não ouvisse. Em que pensava? Só Deus o sabe. Como sempre, a sua consciência estava longe, ficara para trás.
Acabara de baixar os olhos quando, de repente, viu o raposo. E este estava a olhar para ela. Tinha o focinho descaído e os olhos levantados, fitando o espaço à sua frente. Então, os seus olhares encontraram-se. E ele reconheceu-a. Ela estava fascinada, como que enfeitiçada, sabendo que ele a reconhecia. Ele olhou-a bem dentro dos olhos e ela sentiu-se desfalecer, como se a alma lhe fugisse. Ele reconhecia-a, por isso não tinha medo.
Mas ela esforçou-se por reagir, recobrando confusamente o domínio de si mesma, enquanto o via afastar-se, aos saltos por sobre alguns ramos caídos, saltos lentos, vagarosos, descarados. Então, virando a cabeça, ele voltou a mirá--la mais uma vez e desapareceu depois numa corrida pausada, suave. Ela ainda lhe viu a cauda erguida, ondulando leve como uma pena, assim como as manchas brancas dos quadris, cintilando na distância. E assim se foi, suavemente, tão suave como o vento.
Ela levou então a arma ao ombro, e mais uma vez franziu os lábios num esgar, sabendo que era um disparate tentar disparar. Assim, começou a segui-lo devagar, avançando na direcção que ele tomara, lenta, obstinadamente. Tinha esperanças de o encontrar. No mais íntimo de si mesma, estava decidida a encontrá-lo. Não pensou naquilo que faria quando o voltasse a ver, mas estava decidida a encontrá-lo. E assim andou muito tempo pela orla do bosque, absorta, perdida, os olhos negros muito vivos, muito abertos, um ligeiro rubor nas faces quentes. Ia sem pensar. Numa estranha apatia, o cérebro vazio, vagueou de cá para lá.
Por fim, deu-se conta de que Banford estava a chamá-la. Esforçando-se por despertar, tentou dar atenção e, voltando-se, soltou uma espécie de grito à laia de resposta. E retomou então o caminho da fazenda, avançando a grandes passadas. O sol estava já a pôr-se, num brilho rubro, e as galinhas começaram a recolher aos poleiros. Ela olhou-as, um bando de criaturas pretas e brancas aglomerando-se junto ao celeiro. Como que enfeitiçada, olhou--as sem as ver. Mas a sua inteligência automatizada preveniu-a da altura em que devia fechar a porta.
Foi então para dentro, preparando-se para cear, pois Banford já pusera a comida na mesa. Banford tagarelava com grande à vontade. March fingia ouvi-la na sua maneira distante, varonil, dando lacónicas respostas de quando em vez. Mas esteve o tempo todo como debaixo de um sortilégio. E assim que a refeição acabou, voltou a levantar-se para sair, fazendo-o sem sequer dizer porquê. Levou outra vez a arma e foi em busca do raposo. Pois ele levantara os olhos para ela, ele reconhecera-a, e isso parecia ter-lhe penetrado o cérebro, dominando-a. Não pensava muito nele: estava possuída por ele. Ela reviu os seus olhos escuros, astutos, impassíveis, fitando-a lá bem no fundo, desvendando-a, olhos de quem sabia conhecê-la. E sentiu que ele possuía um domínio invisível sobre o seu espírito. Relembrou o modo como ele baixara a queixada ao olhar para ela, reviu-lhe o focinho, o castanho dourado, o branco acinzentado. E voltou a vê-lo virar a cabeça, o olhar furtivo que lhe deitou, meio convidativo, meio desdenhoso, algo atrevido também. E por isso foi, os grandes olhos espantados e cintilantes, a espingarda debaixo do braço, andando de cá para lá na orla do bosque. Entretanto, caiu a noite, pelo que uma lua enorme, redonda, começou a erguer-se por detrás dos pinheiros. Então, Banford voltou a chamá-la.
Assim, ela voltou para casa. Estava silenciosa, atarefada. Examinou e limpou a arma, perdida em abstractos devaneios, a mente divagando à luz da lâmpada. E depois voltou a sair, ao luar, para ver se estava tudo em ordem. Mas quando viu as cristas negras dos pinheiros recortadas no céu sanguíneo, o coração acelerou-se-lhe, de novo batendo pelo raposo, sempre pelo raposo. E teve vontade de retomar a sua busca, de espingarda na mão.
Passaram alguns dias antes de ela mencionar o caso a Banford. Então, uma tarde, disse de súbito:
- Na noite de sábado passado, o raposo esteve mesmo ao pé de mim.
- Onde? - disse Banford, abrindo muito os olhos por detrás dos óculos.
- Quando estava ao pé da lagoa.
- Deste-lhe um tiro? - gritou Banford.
- Não, não dei.
- Porque não?
- Bem, suponho que fiquei demasiado surpreendida, só isso.
Era esta a velha maneira de falar que March sempre tivera, lenta e lacónica. Banford observou a amiga por alguns instantes.
- Mas viste-lo? - exclamou ela.
- Claro que sim! Ele estava a olhar para mim, impávido e sereno, como se não fosse nada com ele.
- Não me digas! - gritou Banford. - Que descaramento! Não têm medo nenhum de nós, Nellie, é o que te digo.
- Lá isso não - disse March.
- Só é pena que não lhe tenhas dado um tiro - acrescentou Banford.
- Sim, é pena! Desde então que tenho andado à procura dele. Mas não creio que volte a aproximar-se tanto da próxima vez.
- Sim, também acho - concordou Banford. E esforçou-se por esquecer o caso, apesar de se sentir mais indignada do que nunca com o atrevimento daqueles ratoneiros. March também não tinha consciência de andar a pensar no raposo. Mas sempre que caía em meditação, sempre que ficava meio absorta, meio consciente daquilo que tinha lugar sob os seus olhos, então era o raposo que, de algum modo, lhe dominava o inconsciente, apossando-se da sua mente errante, disponível. E foi assim durante semanas, durante meses. Não interessava que estivesse a trepar às macieiras, a apanhar as últimas ameixas, a cavar o fosso da lagoa dos patos, a limpar o celeiro, pois quando se endireitava, quando afastava da testa as madeixas de cabelo, voltando a franzir a boca daquela forma estranha, crispada, que lhe era habitual, dando-lhe um ar demasiado envelhecido para a idade, era mais do que certo voltar a sentir o espírito dominado pelo velho apelo do raposo, tão vivo e intenso como quando ele a olhara. Nessas ocasiões, era quase como se conseguisse sentir-lhe o cheiro. E isso acontecia-lhe sempre nos momentos mais inesperados, quer à noite quando estava para se ir deitar, quer quando deitava água no bule para fazer chá: lá estava o raposo, dominando-a com o seu fascínio, enfeitiçando-a, subjugando-a.
E assim se passaram alguns meses. Inconscientemente, ela continuava a ir à procura dele sempre que se encaminhava para os lados do bosque. Ele tornara-se-lhe num estigma, numa impressão obsessiva, num estado de espírito permanente, não contínuo mas recorrente, em constante afluxo. Não sabia aquilo que sentia ou pensava: pura e simplesmente, um tal estado invadia-a, dominava-a, tal e qual como quando ele a olhara.
Os meses foram passando, chegaram as noites escuras, pesadas, chegou Novembro, sombrio, ameaçador, época em que March andava de botas altas, os pés mergulhados na lama até ao tornozelo, tempo em que às quatro horas já era de noite, em que o dia nunca chegava propriamente a nascer. Ambas as raparigas temiam aquele tempo. Temiam a escuridão quase contínua que as rodeava, sozinhas na sua pequena quinta junto ao bosque, triste e desolada. Banford tinha medo, um medo físico, concreto. Tinha medo dos vagabundos, receava que alguém pudesse aparecer por ali a rondar. March não tinha tanto medo, era mais uma sensação de desconforto, de turbação. Sentia por todo o corpo como que um constrangimento, uma melancolia, e isso, sim, também a afectava fisicamente.
Usualmente, as duas raparigas tomavam chá na sala de estar. Ao anoitecer, March acendia a lareira, deitando-lhe a madeira que cortara e serrara durante o dia. Tinham então pela frente a longa noite, sombria, húmida, escura lá fora, solitária e um tanto opressiva portas adentro, algo lúgubre mesmo. March preferia não falar, mas Banford não podia estar calada. Bastava-lhe ouvir o vento silvando lá fora por sobre os pinheiros ou o simples gotejar da chuva para ficar com os nervos arrasados.
Uma noite, depois de tomarem chá e lavarem as chávenas na cozinha, retornaram à sala. March pôs os seus sapatos de trazer por casa e pegou no trabalho de croché, coisa que fazia de vez em quando com grande lentidão. Depois, quedou-se silenciosa. Banford ficou diante da lareira, olhando o fogo rubro, pois este, sendo de lenha, exigia uma constante atenção. Estava com receio de começar a ler demasiado cedo, já que os seus olhos não suportavam grandes esforços. Assim, sentou-se a olhar o fogo, ouvindo os sons perdidos na distância, o mugido do gado, o monótono soprar do vento, pesado e húmido, o estrépito do comboio da noite na pequena linha férrea não muito longe dali. Começava a estar como que fascinada pelo fulgor sanguíneo do fogo que ardia.
Subitamente, ambas as raparigas se sobressaltaram, erguendo os olhos. Tinham ouvido passos, passos distintos, nítidos, sem margem para dúvidas. Banford encolheu-se toda com medo. March levantou-se e pôs-se à escuta. Depois, dirigiu-se rapidamente para a porta que dava para a cozinha. Precisamente nessa altura, ouviram os passos aproximarem-se da porta das traseiras. Esperaram uns instantes. Então, a porta abriu-se lentamente. Banford deu um grande grito. Depois, uma voz de homem disse em tom suave:
- Viva!
March recuou e pegou na espingarda encostada a um canto.
- O que é que quer? - gritou em voz aguda. E o homem voltou a falar na sua voz simultaneamente vibrante e suave:
- Ora viva! Há algum problema?
- Olhe que eu disparo! - gritou March. - O que é que quer?
- Mas porquê, qual é o problema? - respondeu ele, no mesmo tom brando, interrogativo, algo assustado agora. E um jovem soldado, com a pesada mochila às costas, penetrou na luz baça da sala. E disse então: - Ora esta! Mas então quem é que vive aqui?
- Vivemos nós - disse March. - O que é
que quer?
- Oh! - exclamou o jovem soldado, uma leve nota de dúvida na sua voz arrastada, melodiosa. - Então William Grenfel já não mora aqui?
- Não, e você bem sabe que não.
- Acha que sei? Bem vê que não. Mas ele viveu aqui, pois era meu avô, e eu mesmo vivia aqui há cinco anos atrás. Afinal, que foi feito dele?
O homem - ou melhor, o jovem, pois não devia ter mais de vinte anos - adiantara-se agora um pouco mais estando já do lado de dentro da porta. March, já sob a influência daquela voz, estranhamente branda, quedou-se, fascinada, a olhar a olhar para ele. Tinha um rosto redondo, avermelhado, com cabelos louros um tanto compridos colados à testa pelo suor. Os olhos eram azuis, muito vivos. Nas faces, sobre a pele fresca e avermelhada, florescia uma fina barba loura, quase como que uma penugem, mais espessa, dando-lhe um ar vagamente resplandecente. Com a pesada mochila às costas, estava algo inclinado, a cabeça atirada para a frente. Tinha o bivaque pendente de uma das mãos. Com olhos vivos e penetrantes, fitava ora uma ora outra das raparigas, e especialmente March, que permanecia de pé, muito pálida, os grandes olhos arregalados, de casaco cintado e grevas, o cabelo atado atrás num grande bando encrespado por sobre a nuca. Continuava de arma na mão. Atrás dela, Banford, agarrada ao braço do sofá, estava toda encolhida, a cabeça meio voltada como quem se preparava para fugir.
- Pensei que o meu avô ainda avô ainda aqui vivesse. Será que já morreu?
- Estamos aqui há três anos - disse Banford, a qual parecia estar agora a recobrar a presença de espírito, talvez por se aperceber de algo de pueril naquela face redonda, de cabelos compridos e suados.
- Três anos! Não me digam! E não sabem quem vivia aqui antes de vocês?
- Só sei que era um velho que vivia sozinho.
- Ah! Então era ele! E o que é que lhe aconteceu?
- Morreu. Só sei que morreu.
- Ah! Então é isso, morreu!
O jovem fitava-as sem mudar de cor ou expressão. E se havia no seu rosto qualquer expressão, para além de um ar ligeiramente confuso, interrogativo, isso devia-se a uma forte curiosidade relativamente às duas raparigas. Mas a
curiosidade daquela jovem cabeça arredondada, apesar de viva e penetrante, era uma curiosidade impessoal, objectiva, fria.
Porém, para March ele era o raposo. Se tal se devia ao facto de ter a cabeça deitada para a frente, ao brilho da fina barba prateada em torno dos malares róseos ou aos olhos vivos e brilhantes, não seria possível dizê-lo; contudo, para ela o rapaz era o raposo e era-lhe impossível vê-lo de outro modo.
- Como é possível que não soubesse se o seu avô estava vivo ou morto? - perguntou Ban-ford, recuperando a sua habitual sagacidade.
- Ah, pois, aí é que está - respondeu o jovem, com um leve suspiro. - Sabe, é que eu alistei-me no Canadá e já não tinha notícias dele há três ou quatro anos... Fugi para lá a fim de me alistar.
- E acabou agora de chegar de França?
- Bem... Não propriamente, pois, na verdade, vim de Salónica.
Houve uma pausa, ninguém sabendo ao certo o que dizer.
- Então agora não tem para onde ir? - disse Banford, algo desajeitadamente.
- Oh, conheço algumas pessoas na aldeia. E, de qualquer forma, sempre posso ir para a Estalagem do Cisne.
- Veio de comboio, suponho. Não quer descansar um bocado?
- Bom, confesso que não me importava nada.
Ao desfazer-se da mochila, emitiu um estranho suspiro, quase que um queixume. Banford olhou para March.
- Ponha aí a arma - disse. - Nós vamos fazer um pouco de chá.
- Ah, sim! - concordou o jovem. - Já vimos demasiadas espingardas.
Sentou-se então no sofá com um certo ar de cansaço, o corpo todo inclinado para a frente.
March, recuperando a presença de espírito, dirigiu-se para a cozinha. Aí chegada, ouviu o jovem monologando na sua voz suave:
- Ora quem diria que havia de voltar e vir encontrar isto assim!
Não parecia nada triste, absolutamente nada; tão-só um tanto ou quanto surpreso e interessado ao mesmo tempo.
- E como tudo isto está diferente, hem? - continuou, relanceando o olhar pela sala.
- Acha que está diferente, é? - disse Banford.
- Se está!... Isso salta à vista...
Os seus olhos eram invulgarmente claros e brilhantes, ainda que tal brilho mais não fosse do que mero reflexo de uma saúde de ferro.
Na cozinha, March andava de cá para lá, preparando outra refeição. Eram cerca de sete horas da tarde. Durante todo o tempo em que esteve ocupada, nunca deixou de prestar atenção ao jovem sentado na saleta, não tanto a ouvir aquilo que este dizia como a sentir o fluir suave e brando da sua voz. Comprimiu os lábios, apertando-os mais e mais, a boca tão cerrada como se estivesse cosida, numa tentativa para manter o domínio de si mesma. Contudo, sem que o pudesse evitar, os seus grandes olhos dilatavam-se, brilhantes, pois perdera já o seu autocontrole. Rápida e descuidadamente, preparou a refeição, cortando grandes fatias de pão e barrando-as com margarina, pois manteiga era coisa que não tinham. Deu voltas à cabeça a pensar no que mais poderia pôr no tabuleiro, já que só tinha pão, margarina e geleia na despensa quase vazia. Incapaz de descobrir fosse o que fosse, dirigiu-se para a sala com o tabuleiro.
Ela não queria chamar as atenções. E, acima de tudo, não queria que ele a olhasse. Mas quando entrou, atarefada a pôr a mesa por detrás dele, ele endireitou-se, espreguiçando--se, e voltou-se para olhar por cima do ombro. Ela empalideceu, sentiu-se quase desfalecer.
O jovem observou-a, debruçada sobre a mesa, olhou-lhe as pernas finas e bem feitas, o casaco cintado flutuando-lhe sobre as coxas, o bandó de cabelos negros, e mais uma vez a sua curiosidade viva e sempre alerta se deixou prender por ela.
A lâmpada estava velada por um quebra-luz verde-escuro, de modo que a luz incidia de cima para baixo, deixando a parte superior da sala envolta na penumbra. O rosto dele movia-se, brilhante, à luz do candeeiro, enquanto March surgia como uma figura difusa, perdida na distância.
Ela virou-se, mas manteve a cabeça de lado, os olhos piscando, rápidos, sob as pestanas negras. Descerrando os lábios, disse então a Banford:
- Não queres servir o chá? Depois, regressou à cozinha.
- Não quer tomar o chá onde está? - disse Banford para o jovem. - A menos que prefira vir para a mesa - acrescentou.
- Bom, sinto-me aqui muito bem, confortavelmente instalado. Se não se importa, prefiro tomá-lo aqui mesmo - respondeu ele.
- Só temos pão e geleia - disse então ela. E pôs-lhe o prato à frente, pousando-o num escabelo. Sentia-se bastante feliz por ter alguém a quem servir, pois adorava companhia. E agora já não tinha medo dele, encarava-o quase como se fosse o seu irmão mais novo, tão criança ele lhe parecia.
- Nellie! - gritou. - Tens aqui a tua chávena.
March surgiu então à entrada da porta, aproximou-se, pegou na chávena e foi-se sentar a um canto, tão longe da luz quanto possível. Sendo muito susceptível quanto aos joelhos, e dado não ter qualquer saia com que os cobrisse, sofria pelo facto de ter de estar assim sentada com eles tão ousadamente em evidência. Assim, encostou-se toda para trás, encolhendo-se o mais que pôde, na tentativa de não ser vista. Mas o jovem, preguiçosamente estirado no sofá, fitava-a com uma tal insistência, os olhos firmes e penetrantes, que ela quase desejou poder desaparecer. No entanto, manteve a chávena direita enquanto bebia o chá, de lábios apertados e cabeça virada. O seu desejo de passar despercebida era tão forte que quase intrigou o rapaz, pois ele sentia que não conseguia vê-la com nitidez. Ela mais parecia uma sombra entre as sombras que a rodeavam. E os seus olhos acabavam sempre por voltar a ela, inquiridores, persistentes, atentos, com uma fixidez quase inconsciente.
Enquanto isso, na sua voz calma e suave, ele conversava com Banford, para quem a tagarelice era tudo no mundo, além de ser dotada de uma aguda curiosidade, qual pássaro saltitante catando aqui e ali. Por outro lado, ele comeu desalmadamente, rápido e voraz, pelo que March teve de ir cortar mais fatias de pão com margarina, por cujo preparo grosseiro Banford se desculpou.
- Oh, tens cada uma! - disse March, saindo repentinamente do seu mutismo. - Se não temos manteiga para lhes pôr, não vale a pena preocuparmo-nos com a elegância das fatias.
O jovem voltou a olhá-la e, subitamente, riu-se, com um riso rápido, sacudido, mostrando assim os dentes sob o nariz franzido.
- Lá isso é verdade - respondeu ele, na sua voz suave, insinuante.
Parece que era da Cornualha, nado e criado aí. Ao fazer doze anos, viera para Bailey Farm com o avô, com o qual nunca se dera muito bem. Assim, tivera de fugir para o Canadá, tendo passado a trabalhar longe, no Oeste. Agora voltara e ali estava, eis toda a sua história.
Mostrava-se muito curioso quanto às raparigas, pretendendo saber exactamente em que é que se ocupavam. As questões que lhes punha eram típicas de um jovem fazendeiro: argutas, práticas e um tanto trocistas. Parecia ter ficado muito divertido com a atitude delas face aos prejuízos, pois achava-as particularmente cómicas quanto ao caso das vitelas e das aves.
- Oh, bem vê - interrompeu March -, nós não concordamos em viver só para trabalhar.
- Ah, não? - respondeu. De novo o rosto se lhe iluminou num sorriso pronto e jovial. E o seu olhar, firme e insistente, voltou a cravar-se na mulher sentada ao canto, na obscuridade.
- Mas o que pensam fazer quando o vosso capital chegar ao fim? - indagou.
- Oh, isso não sei - retorquiu March, laconicamente. - Oferecermo-nos para trabalhar nos campos, suponho eu.
- Sim, mas não deve haver assim grande procura de mulheres para trabalhar no campo, agora que a guerra acabou - volveu o jovem.
- Oh, isso depois se vê. Ainda nos poderemos aguentar durante mais algum tempo - retorquiu March, num tom de indiferença algo plangente, meio triste, meio irónico.
- Faz aqui falta um homem - disse o jovem suavemente. Banford desatou a rir, soltando uma gargalhada.
- Veja lá o que diz - interrompeu ela. - Nós consideramo-nos muito capazes.
- Oh! - disse March, na sua voz arrastada e dolente. - Receio bem que não seja um simples caso de se ser ou não capaz. Quem se quiser dedicar à lavoura, terá de trabalhar de manhã à noite, quase que terá mesmo de se animalizar.
- Sim, estou a ver - respondeu o jovem. - E vocês não querem meter-se nisso de pés e mãos.
- Não, não queremos - disse March - e temos consciência disso.
- Queremos ficar com algum tempo para nós mesmas - acrescentou Banford.
O jovem recostou-se no sofá, tentando conter o riso, um riso silencioso mas que o dominava completamente. O calmo desdém das raparigas deixava-o profundamente divertido.
- Está bem - volveu ele - mas então porque começaram com isto?
- Oh! - retorquiu March. - Acontece que antes tínhamos uma melhor opinião da natureza das galinhas do que a que temos agora.
- Creio bem que de toda a Natureza - disse Banford. - E digo-lhes mais: nem me falem da Natureza!
Mais uma vez o rosto do jovem se contraiu num riso delicado.
- Vocês não têm lá grande opinião de galinhas e de gado, pois não? - disse então ele.
- Oh, não! - disse March. - E até bastante pequena.
O jovem, não conseguindo conter-se, soltou uma sonora gargalhada.
- Nem de galinhas, nem de vitelos, nem de cabras, nem do tempo - rematou Banford.
O jovem irrompeu então num riso rápido, convulsivo, explodindo em divertidas gargalhadas. As raparigas começaram também a rir. March, virando o rosto, franziu a boca num esgar, um riso contido sob os lábios cerrados.
- Bom - disse Banford -> mas não nos ralamos muito com isso, pois não, Nellie?
- Não - disse March -> não nos ralamos. O jovem sentia-se ah muito bem. Comera e bebera bastante, saciara-se até estar cheio. Banford começou a interrogá-lo. Chamava-se Henry Grenfel. Não, Harry não, chamavam--lhe sempre Henry. E continuou a responder de um modo simples, cortês, num tom simultaneamente solene e encantador. March, que não participava no diálogo, olhava-o lenta e demoradamente do seu refúgio do canto, con-templando-o ali sentado no sofá, de mãos espalmadas nos joelhos, o rosto batido pela luz do candeeiro enquanto, virado para Banford, lhe dava toda a sua atenção. Por fim, quase que se sentia calma, em paz. Ela identificara-o com o raposo e ali estava ele, presença física, viva, integral. Já não precisava de andar atrás dele, de ir à sua procura. Perdida na sombra do seu canto, sentiu-se tomada de uma paz quente, relaxante, quase como se o sono a invadisse, aceitando aquele encantamento que a habitava. Mas desejava continuar oculta, despercebida. Só se sentia totalmente em paz enquanto ele continuasse a ignorá-la, conversando com Banford. Oculta na sombra do seu canto, já não tinha razão para se sentir dividida, para tentar manter vivos dois planos de consciência. Podia finalmente mergulhar por inteiro no odor do raposo.
Pois o jovem, sentado junto à lareira dentro do seu uniforme, enchia a sala de um odor simultaneamente vago mas distinto, um tanto indefinível mas algo semelhante ao de um animal selvagem. March não mais tentou escapar-lhe. Mantinha-se calma e submissa no seu canto, tão quieta e passiva como um qualquer animal na sua toca.
Finalmente, a conversa começou a esmorecer. O jovem, tirando as mãos dos joelhos, endireitou-se um pouco e olhou em volta. E de novo tomou consciência daquela mulher silenciosa, quase invisível no seu canto.
- Bom - disse, algo contrariado -> suponho que é melhor ir andando ou quando chegar ao Cisne já estão todos deitados.
- De qualquer modo, receio que já estejam todos na cama - disse Banford. - Parece que apanharam essa gripe que anda para aí.
- Ah, sim?! - exclamou ele. E ficou alguns instantes pensativo. - Bem - continuou -, em algum lado hei-de arranjar onde ficar.
- Eu ia dizer para cá ficar, só que... - começou Banford.
Virando-se então, ele olhou-a, a cabeça atirada para a frente.
- Como? - perguntou.
- Quero eu dizer, as convenções, sei lá... - explicou ela. Parecia um bocado embaraçada.
- Não seria muito próprio, não é assim? - disse ele, num tom surpreso mas gentil.
- Não pela nossa parte, é claro - respondeu Banford.
- E não pela minha - retorquiu ele, com ingénua gravidade. - Ao fim e ao cabo, de certa forma esta continua a ser a minha casa.
Banford sorriu ao ouvi-lo.
- Trata-se antes do que a aldeia poderá dizer - observou.
Houve uma ligeira pausa.
- O que é que achas, Nellie? - perguntou Banford.
- Eu não me importo - respondeu March no seu tom habitual, nítido e claro. - E, de qualquer forma, a aldeia não me interessa para nada.
- Ah, não? - disse o jovem, em voz rápida mas suave. - Mas porque o fariam? Quer dizer, de que poderiam eles falar?
- Oh, isso! - volveu March, no seu tom lacónico, plangente. - Facilmente descobririam qualquer coisa. Mas não interessa aquilo que eles possam dizer. Nós sabemos cuidar de nós próprias.
- Sem qualquer dúvida - respondeu o jovem.
- Bom, então se quiser fique por aqui - disse Banford. - O quarto dos hóspedes está sempre pronto.
O rosto dele iluminou-se-lhe de prazer.
- Se têm a certeza de que não será um grande incómodo - observou ele naquele tom de suave cortesia que o caracterizava.
- Oh, não é incómodo nenhum - responderam as raparigas.
Sorrindo, satisfeito, ele olhava, ora para uma ora para outra.
- E mesmo muito agradável não ter de voltar a sair, não é verdade? - acrescentou, agradecido.
- Sim, suponho que sim - disse Banford.
March saiu para ir tratar do quarto. Banford estava tão satisfeita e solícita como se fosse o seu irmão mais novo quem tivesse voltado de França. Aquilo era tão gratificante para ela como se tivesse de cuidar dele, de lhe preparar o banho, de lhe tratar das coisas e tudo o resto. A sua generosidade e afectividade naturais tinham agora em que se aplicar. E o jovem estava deliciado com toda aquela fraternal atenção. Mas sentiu-se algo perturbado ao lembrar-se de que March, apesar de silenciosa, também estava a trabalhar para ele. Ela era tão curiosa, tão silenciosa e apagada. Quase que tinha a impressão de que ainda não a vira bem. E sentiu que até poderia não a reconhecer se se cruzassem na estrada.
Naquela noite, March teve um sonho perturbador, particularmente vivo e agitado. Sonhou que ouvia cantar lá fora, um cântico que não conseguia entender, um cântico que errava à volta da casa, vagueando pelos campos, perdendo-se na escuridão. Sentiu-se tão emocionada que teve vontade de chorar. Decidiu-se então a sair e, de repente, soube que era ele, soube que era o raposo quem assim cantava. Confundia-se com o trigo, de tão amarelo e brilhante. Ela então aproximou-se dele, mas o raposo fugiu, deixando de cantar. Contudo, parecia-lhe tão perto que quis tocá-lo. Estendeu a mão, mas, de súbito, ele arremeteu, mordendo-lhe o pulso, e no mesmo instante em que ela recuou, o raposo, virando-se para fugir, já a preparar o salto, bateu-lhe com a cauda na cara, dando a sensação de que esta estava em fogo, tão grande foi a dor que sentiu, como se a boca tivesse ficado ferida, queimada. E acordou com aquela horrível sensação de dor, quedando-se, trémula, como se se tivesse realmente queimado.
Contudo, na manhã seguinte, já só se lembrava dele como de uma vaga recordação. Levantando-se, pôs-se logo a tratar da casa para ir depois cuidar das aves. Banford fora até à aldeia de bicicleta na esperança de conseguir comprar alguma comida, pois era naturalmente hospitaleira. Mas, infelizmente, naquele ano de 1918 não havia muita comida à venda. Ainda em mangas de camisa, o jovem, saindo do quarto, foi até ao rés-do--chão. Era novo e sadio, mas como andava com a cabeça atirada para a frente, fazendo com que os ombros parecessem levantados e algo recurvos, dava a sensação de sofrer de uma ligeira curvatura da espinha. Mas devia ser apenas uma questão de hábito, um jeito que apanhara, pois era jovem e vigoroso. Enquanto as mulheres estavam a preparar o pequeno-almoço, lavou-se e saiu.
Andou por todo o lado, olhando e examinando tudo com a maior atenção. Comparou o actual estado da quinta com aquilo que ela antes fora, pelo menos até onde conseguia lembrar-se, fazendo depois um cálculo mental do efeito das mudanças. Foi ver as galinhas e os patos, avaliando das condições em que estavam; observou o voo dos pombos-bravos, extremamente numerosos, que passavam no céu por cima de si; viu a macieira e as maçãs que, por demasiados altas, March não conseguira apanhar; reparou numa bomba de sucção que elas tinham tomado de empréstimo, presumivelmente para esvaziarem a grande cisterna de água doce situada junto ao lado norte da casa.
- Tudo isto está velho e gasto, mas não deixa de ser curioso - disse às raparigas ao sentar-se para tomar o pequeno-almoço.
Sempre que reflectia em qualquer coisa, havia nos seus olhos um brilho simultaneamente inteligente e pueril. Não falou muito, mas comeu até fartar. March manteve o rosto de lado, os olhos desviados o tempo todo. E também ela, naquele princípio de manhã, não tinha clara consciência da presença dele, ainda que algo no brilho do caqui que ele envergava lhe lembrasse o cintilante esplendor do raposo do seu sonho.
Durante o dia, as raparigas andaram por aqui e por ali, entregues às suas tarefas. Quanto a ele, de manhã dedicou-se à caça, tendo morto a tiro um coelho e um pato--bravo que voava alto, para os lados do bosque. Isto representava um apreciável contributo, dado a despensa estar mais que vazia. Deste modo, as raparigas acharam que já pagara a despesa feita. Contudo, ele não disse nada quanto a ir-se embora. De tarde, foi até à aldeia, tendo voltado à hora do chá. Tinha no rosto arredondado o mesmo olhar vivo, penetrante, alerta. Pendurou o chapéu no cabide num pequeno movimento bamboleante. A avaliar pelo seu ar pensativo, tinha qualquer coisa em mente.
- Bom - disse às raparigas enquanto se sentava à mesa. - O que é que eu vou fazer?
- O que quer dizer com isso? - perguntou Banford.
- Onde é que eu vou arranjar na aldeia um lugar para ficar? - esclareceu ele.
- Eu cá não sei - disse Banford. - Onde é que pensa ficar?
- Bem... - respondeu ele, hesitante. - No Cisne estão todos com a tal gripe e no Grade e Arado têm lá os soldados que andam na recolha de feno para o exército. Além disso, na aldeia, já há dez homens e um cabo aboletados em casas particulares, ao que me disseram. Não sei lá muito bem onde é que irei achar uma cama.
E deixou o assunto à consideração das raparigas. Não parecia muito preocupado, estava até bastante calmo. March, sentada com os cotovelos pousados na mesa e o queixo entre as mãos, olhava-o meio absorta, quase sem se dar conta. De súbito, ele ergueu os seus olhos azul-escuros, fixando-os abstractamente nos de March. Ambos estremeceram, surpreendidos. E também ele se retraiu, esboçando um ligeiro recuo. March sentiu o mesmo clarão furtivo, sarcástico, saltar daqueles olhos brilhantes quando ele desviou o rosto, o mesmo fulgor astuto, conhecedor, dos olhos escuros do raposo. E, tal como acontecera com o raposo, sentiu que aquele olhar lhe trespassava a alma, penetrando-a de lado a lado. Como presa de viva dor ou em meio a um sono agitado, a boca crispou-se-lhe, os lábios contraíram-se.
- Bom, não sei... - dizia Banford. Parecia algo relutante, como se receasse que estivessem a querer enganá-la, a querer impor-lhe qualquer coisa. Olhou então para March. Mas, dada a sua fraca visão, sempre algo turvada, mais não viu no rosto da amiga do que aquele seu ar meio abstracto de sempre.
- Porque é que não dizes nada, Nellie? - perguntou.
Mas March mantinha-se silenciosa, olhos arregalados e errantes, enquanto o jovem, como que fascinado, a observava de olhos fixos.
- Vamos, diz qualquer coisa - insistiu Banford. E March virou então ligeiramente a cabeça, como que a tomar enfim consciência das coisas ou, pelo menos, a tentar fazê-lo.
- Mas que esperas tu que eu diga? - perguntou em tom automático.
- Dá a tua opinião - disse Banford.
- Tanto se me dá, é-me indiferente - respondeu March.
E novo silêncio se instalou. Qual língua de fogo, uma luz pareceu brilhar nos olhos do rapaz, penetrante como uma agulha.
- Pois a mim também - disse então Banford. - Se quiser, pode ficar por cá.
Acto contínuo, quase que involuntariamente, um sorriso perpassou pelo rosto do rapaz, uma súbita chama de astúcia a iluminá-lo. Baixando rapidamente a cabeça, escondeu-a então nas mãos e assim ficou, cabeça baixa, rosto oculto.
- Como disse, se quiser pode cá ficar. Faça como entender, Henry - rematou Banford.
Mas ele continuava sem responder, insistindo em permanecer de cabeça baixa. Por fim, ao erguer o rosto, havia neste um estranho brilho, como se naquele momento todo ele exultasse, enquanto observava March com olhos estranhamente claros, transparentes. Esta desviou o rosto, um ricto de dor na boca crispada, quase como se ferida, a consciência toldada, presa de confusa turvação.
Banford começou a sentir-se um pouco intrigada. Viu os olhos do jovem fitos em March, olhos firmes, decididos, quase que transparentes, o rosto iluminado por um sorriso imperceptível, mais adivinhado do que real. Ela não percebia como é que ele podia estar a sorrir, pois as suas feições afectavam uma imobilidade de estátua. Tal parecia provir do brilho, quase que do fulgor que dimanava da fina barba daquelas faces. Então, ele olhou finalmente para Banford, mudando sensivelmente de expressão.
- Não tenho dúvidas - disse, na sua voz suave, cortês - de que você é a bondade em pessoa. Mas é demasiada generosidade da sua parte. Bem sei que isso seria um grande incómodo para si.
- Corta um bocado de pão, Nellie - disse Banford, algo constrangida. E acrescentou: - Não é incómodo nenhum, pode ficar à vontade. É como se tivesse aqui o meu irmão a passar alguns dias. Ele é quase da sua idade.
- É demasiada bondade da sua parte - repetiu o rapaz. - Terei todo o gosto em ficar se estiver certa de que não incomodo.
- Não, não incomoda nada. Digo-lhe mais: é mesmo um prazer ter aqui alguém para nos fazer companhia - respondeu a bondosa Banford.
- E quanto a Miss March? - perguntou ele com toda a suavidade, olhando para ela. - Oh, por mim não há problema, está tudo bem - respondeu March num tom vago, abstracto.
O rosto radiante, ele quase esfregou as mãos de satisfação.
- Bom - disse -, nesse caso, terei todo o gosto em ficar, isto se me permitirem que pague a minha despesa e as ajude com o meu trabalho.
- Não precisa de pagar, isto aqui não é pensão - atalhou Banford.
Passado um dia ou dois, o jovem continuava na quinta. Banford estava encantada com ele. Sempre que falava, fazia-o de uma forma suave e cortês, nunca querendo monopolizar a conversa, preferindo antes ouvir aquilo que ela tinha para dizer e rindo-se depois com o seu riso rápido, sacudido, um tanto trocista por vezes. E ajudava-as de boa vontade no trabalho, pelo menos desde que este não fosse muito. Gostava mais de andar por fora, sozinho com a sua espingarda, sempre atento e observador, olhando para tudo com olhos de ver. Pois lia-se-lhe nos olhos ávidos uma insaciável curiosidade por tudo e todos, donde sentir-se mais livre quando o deixavam só, sempre meio escondido em observação, alerta e vigilante.
E era March quem mais gostava de observar, pois o seu estranho carácter intrigava-o e atraía-o ao mesmo tempo. Por outro lado, sentia-se seduzido pela sua silhueta esguia, pelo seu porte grácil, algo masculino. Sempre que a olhava, os seus olhos negros atingiam-no no mais íntimo de si mesmo, faziam-no vibrar de júbilo, despertavam em si uma curiosa excitação, excitação que receava deixar transparecer, tão viva e secreta ela era. E depois aquela sua estranha forma de falar, inteligente e arguta, dava-lhe uma franca vontade de rir. Naquele dia, sentiu que devia ir mais longe, que havia algo a impeli-lo irresistivelmente para ela. Contudo, afastando-a do pensamento, recalcou tais impulsos e saiu porta fora, dirigindo-se para a orla do bosque de espingarda na mão.
Estava já a anoitecer quando se decidiu a voltar para casa, tendo entretanto começado a cair uma daquelas chuvas finas de fins de Novembro. Olhando em frente, viu a luz da lareira bruxuleando por detrás dos vidros da janela da sala, tremular aéreo em meio ao pequeno aglomerado dos edifícios escuros.
E pensou para consigo que não seria nada mau ser dono daquele lugar. E então, insinuando-se maliciosamente, surgiu-lhe a ideia: e porque não casar com March? Totalmente dominado por aquela ideia, quedou-se algum tempo imóvel no meio do campo, o coelho morto pendendo-lhe da mão. Num fervilhar expectante, a sua mente trabalhava, reflectindo, ponderando, calculando, até que finalmente ele sorriu, uma curiosa expressão de aquiescência estampada no rosto. Pois porque não? Sim, realmente porque não? Até era uma boa ideia. Que importava que isso pudesse ser um tanto ridículo? Sim, que importância tinha isso? E que importava que ela fosse mais velha do que ele? Nada, absolutamente nada. E ao pensar nos seus olhos negros, olhos assustados, vulneráveis, sorriu maliciosamente para consigo. Na verdade, ele é que era mais velho do que ela. Dominava-a, era o seu senhor.
Mas até mesmo a seus olhos lhe custava a admitir tais intenções, até mesmo para si estas continuavam secretas, ocultas algures num qualquer surdo recesso da mente. Pois, de momento, ainda era tudo muito incerto. Teria de aguardar o desenrolar dos acontecimentos, ver qual a sua evolução. Sim, tinha de ser paciente. Se não fosse cuidadoso, arriscava-se a que ela, pura e simplesmente, escarnecesse de uma tal hipótese. Pois ele sabia, astuto e sagaz como era, que se fosse ter com ela para lhe dizer assim de chofre: "Miss March, amo-a e quero casar consigo", a resposta dela seria inevitavelmente: "Desapareça. Não quero saber dessas palermices." Seria certamente essa a sua atitude para com os homens e as suas "palermices". Se não fosse cuidadoso, ela dominá-lo-ia, cobri-lo-ia de ridículo no seu tom selvagem, sarcástico, pô-lo-ia fora da quinta, expulsá-lo-ia para sempre do seu próprio espírito. Tinha de ir devagar, suavemente. Teria de a apanhar como quem apanha um veado ou uma galinhola quando vai à caça. De nada serve entrar floresta adentro para dizer ao veado: "Por favor, põe-te na mira da minha espingarda." Não, trata-se antes de uma luta surda, paciente, subtil. Quando se quer de facto ir apanhar um veado, temos de começar por nos concentrarmos, por nos fecharmos sobre nós próprios, dirigindo-nos depois silenciosamente para as montanhas, antes mesmo do amanhecer. Quando se vai caçar, o importante não é tanto aquilo que se faz, é mais aquilo que se sente. Há que ser subtil, astuto, há que estar sempre pronto, ser absolutamente determinado, resoluto no avançar, fatal como o destino. Pois tudo se passa como se mais não houvesse do que um simples destino a cumprir. O nosso próprio destino comanda e determina o destino do veado que se anda a caçar. Em primeiro lugar, antes mesmo de vermos a caça, trava-se uma estranha batalha, uma batalha mesmérica, de magnetismo contra magnetismo. A nossa própria alma, como um caçador, partiu já em busca da alma do veado, e isto mesmo antes de vermos qualquer veado. E a alma do veado luta para lhe escapar. E assim que tudo se passa, antes mesmo de o veado ter captado o nosso cheiro. Trava-se então uma batalha de vontades, subtil, profunda, uma batalha que tem lugar no mundo do invisível. Batalha que só acaba quando a nossa bala atinge o alvo. E quando se chega realmente ao verdadeiro clímax, quando a caça surge por fim na nossa linha de tiro, não vamos então apontar como quando praticamos tiro ao alvo contra uma garrafa. Pois nessa altura é a nossa própria vontade que realmente conduz a bala até ao coração da caça. O voo da bala, directa ao alvo, não passa de uma débil projecção do nosso próprio destino no destino do veado. Tudo acontece enquanto expressão de um supremo desejo, de um supremo acto da vontade, não enquanto demonstração de uma simples habilidade, mera astúcia ou esperteza.
No fundo, ele era um caçador, não um fazendeiro, não um soldado com espírito de regimento. E era como jovem caçador que desejava apanhar March, transformá-la na sua presa, fazer dela sua mulher. Assim, fechou-se subtilmente sobre si mesmo, numa tão grande concentração interior que quase parecia desaparecer numa espécie de invisibilidade. Não estava muito certo de como deveria avançar. Além de que March era mais desconfiada do que uma lebre. Deste modo, decidiu continuar na aparência como aquele jovem desconhecido, estranho e simpático, em estada de quinze dias naquela casa. Naquele dia, passara a tarde a cortar lenha para a lareira. Escurecera muito cedo. Além disso, pairava no ar uma névoa fria e húmida. Quase que já estava demasiado escuro para se ver fosse o que fosse. Um monte de pequenos toros já serrados jazia junto a uma banqueta. March chegou para levar alguns para dentro de casa e outros para o telheiro, enquanto ele se preparava para serrar o último toro. Estava a trabalhar em mangas de camisa, não tendo notado a chegada dela. Ela aproximou-se com uma certa relutância, quase como que a medo. E então ele viu-a curvada sobre os toros recém-cortados, de arestas vivas, aguçadas, e parou de serrar. Como um relâmpago, sentiu um fogo subir-lhe pelas pernas, abrasando-lhe os nervos.
- March? - inquiriu, na sua voz jovem e calma.
Ela olhou por cima dos toros que estava a empilhar.
- Sim? - respondeu.
Ele tentou vê-la através da escuridão, mas não conseguia distingui-la lá muito bem.
A sua imagem chegava-lhe algo esbatida, de contornos vagos, indistintos.
- Quero perguntar-lhe uma coisa - disse então.
- Ah, sim? E o que é? - volveu ela. E havia já na sua voz um certo medo. Mas continuava perfeitamente senhora de si.
- Ora, diga-me - começou ele em tom insinuante, numa voz suave, subtil, penetran-do-lhe os nervos, arrepiando-a. - Que pensa que seja?
Ela endireitou-se, de mãos nas ancas, e ficou a olhar para ele sem responder, como que petrificada. E ele voltou a sentir-se tomado de uma súbita sensação de poder.
- Pois bem - disse, havendo na sua voz uma tal suavidade que mais parecia um leve toque, um simples aflorar, quase como quando um gato estende a pata numa imperceptível carícia, surgindo mais como um sentimento do que como um som. - Pois bem, queria pedir-lhe para casar comigo.
Mais do que ouvir, March sentiu dentro de si o eco daquela frase. Mas era em vão que tentava desviar o rosto. Uma profunda lassidão pareceu então invadi-la. Ficou de pé, silenciosa, a cabeça levemente inclinada para um lado. Ele parecia estar a curvar-se para ela, um sorriso invisível no rosto atento. E ela teve a sensação de que todo ele cintilava, rápidas faíscas dardejando do seu corpo imóvel.
Em tom rápido e abrupto, respondeu então:
- Não me venha para cá com essas palermices.
O rapaz sobressaltou-se, um espasmo nos nervos tensos, contraídos. Soube que falhara o golpe. Quedou-se então uns instantes calado tentando ordenar as ideias. Depois, pondo na sua voz toda aquela estranha suavidade tão peculiar, disse como que num afago, numa quase imperceptível carícia:
- Mas não é palermice nenhuma. Não, não é palermice. Estou a falar a sério, muito a sério. Porque é que não acredita em mim?
Parecia ferido, quase que ofendido. E a sua voz exercia um curioso poder sobre ela, dando-lhe uma sensação de liberdade, de descontracção. Algures dentro de si, ela tentava lutar, debatendo-se em busca das forças que lhe fugiam. Por um momento, sentiu-se perdida, irremediavelmente perdida. Como que moribunda, as palavras tremiam-lhe na boca, teimavam em não sair. De repente, a fala voltou-lhe.
- Você não sabe o que está a dizer! - exclamou, um leve e passageiro tom de escárnio palpitando-lhe na voz. - Mas que disparate! Tenho idade para ser sua mãe.
- Sim, sei muito bem o que estou a dizer. Sei, sim, sei muito bem o que estou a dizer - insistiu ele com enorme suavidade, como se quisesse que ela sentisse no sangue toda a força da sua voz. - Tenho plena consciência daquilo que estou a dizer. E você não tem idade para ser minha mãe, sabe muito bem que isso não é verdade. E mesmo que assim fosse, que importava isso? Pode muito bem casar comigo tenha lá a idade que tiver. Que me importa a idade? E que lhe importa isso a si? A idade não interessa!
Sentiu-se tomada de uma súbita tontura, quase que a desfalecer, quando ele acabou de falar. Ele falava rapidamente, naquela maneira rápida de falar que tinham na Cornualha, e a sua voz parecia ressoar algures dentro dela, lá onde se sentia totalmente impotente contra isso. "A idade não interessa!" Aquela insistência, como ele a dissera, suave e ardente ao mesmo tempo, dava-lhe uma estranha sensação e, por instantes, ali perdida na escuridão, sentiu-se quase a cambalear. E não foi capaz de responder.
Ele exultou, os membros ardendo-lhe, frementes, tomados de incontível júbilo. Sentiu que ganhara a partida.
- Bem vê que quero casar consigo. Porque é que não havia de o querer? - continuou ele, no seu jeito rápido e suave. E ficou à espera de uma resposta. Em meio à escuridão, ela parecia-lhe quase fosforescente. De pálpebras cerradas, o rosto meio de lado, tinha um ar ausente, abstracto. Parecia dominada pelo seu poder, submissa, quase que vencida. Mas ele aguardou, prudente e alerta. Ainda não ousava tocar-lhe.
- Diga lá que sim - volveu ele. - Diga que casa comigo. Vá, diga!... - Falava agora num tom de suave insistência.
- O quê? - perguntou então ela, numa voz frouxa, distante, como de alguém presa de viva dor. A voz do rapaz tornara-se agora incrivelmente meiga, cada vez mais suave. Ele estava agora muito perto dela.
- Diga que sim.
- Não, não posso! - gemeu ela, desamparada, mal articulando as palavras, quase que num estado de semi-inconsciência, como alguém nas vascas da agonia. - Como seria isso possível?
- Claro que pode - respondeu ele com meiguice, pousando-lhe suavemente a mão no ombro enquanto ela permanecia de pé, atormentada e confusa, o rosto de lado, a cabeça descaída. - Pode, claro que pode. Porque diz que não pode? Pode, bem sabe que pode. - E, com extrema ternura, curvou-se para ela, tocando-lhe no pescoço com o queixo, pousando-lhe os lábios, a boca.
- Não, não faça isso! - gritou ela, um grito frouxo, incontrolado, quase que histérico, escapando-se para depois o encarar. - O que quer dizer com isso? - acrescentou ainda. Mas não tinha forças para continuar a falar. Era como se já estivesse morta.
- Exactamente aquilo que disse - insistiu ele, com cruel suavidade. - Quero que case comigo. E isso mesmo, quero que case comigo. Agora já entendeu, não é assim? Já entendeu? Já? Diga que sim...
- O quê? - perguntou ela.
- Se já entendeu?... - replicou ele.
- Sim - respondeu ela. - Sei aquilo que disse.
- E sabe que falo a sério, não sabe?
- Sei aquilo que disse, nada mais.
- E acredita em mim? - perguntou ele então.
Ela quedou-se algum tempo silenciosa. Depois, de rosto tenso, os lábios crisparam-se--lhe, a boca contraiu-se.
- Não sei em que deva acreditar - disse.
- Estão aí fora? - perguntou então uma voz. Era Banford, chamando de dentro de casa.
- Sim, íamos agora levar a lenha - respondeu ele.
- Pensei que se tivessem perdido - disse Banford, num tom algo desconsolado. - Despachem-se, fazem favor, para virem tomar o chá. A chaleira já está a ferver.
Curvando-se de imediato para pegar numa braçada de lenha, ele levou-a então para a cozinha, onde costumavam empilhá-la a um canto. March também ajudou, enchendo os braços de cavacos e transportando-os de encontro ao peito como se carregasse consigo uma criança pesada e gorda. A noite caíra entretanto, fria e húmida.
Depois de levarem toda a lenha para dentro, os dois limparam ruidosamente as botas na grade exterior, esfregando-as depois no tapete. March fechou então a porta e tirou o seu velho chapéu de feltro, o seu chapéu de fazendeira. O cabelo negro, encrespado e espesso, tombava-lhe, solto, sobre os ombros, contrastando com as faces pálidas e cansadas. Com um ar ausente, atirou distraidamente o cabelo para trás e foi lavar as mãos. Banford entrou apressadamente na cozinha mal iluminada a fim de ir buscar os scones1 que deixara no forno a aquecer.
- Mas que diabo estiveram vocês a fazer até agora? - perguntou ela em tom azedo. - Já pensava que nunca mais vinham. E há que tempos que você parou de serrar. Que estiveram vocês a fazer lá fora?
- Bem - disse Henry -, estivemos a tapar aquele buraco no celeiro para os ratos não entrarem.
- Ora essa! Mas eu vi-os no telheiro. Você estava de pé, em mangas de camisa - objectou Banford.
- Sim, nessa altura eu tinha ido arrumar a serra.
Tomaram então o chá. March estava muito calada, um ar absorto no rosto pálido e cansado. O jovem, sempre de rosto corado e ar reservado, como que a vigiar-se a si mesmo, estava a tomar o chá em mangas de camisa, tão à vontade como se estivesse em sua casa. Debruçando-se sobre o prato, comia com toda a sem-cerimónia.
- Não tem frio? - perguntou Banford em tom maldoso. - Assim em mangas de camisa...
Ele olhou para ela, ainda com o queixo junto ao prato, observando-a com olhos claros, transparentes. Fitava-a com o mesmo ar imperturbável de sempre.
- Não, não tenho frio - respondeu ele com a sua habitual cortesia, no seu tom suave e modulado. - Está muito mais quente aqui do que lá fora, sabe...
- Espero bem que sim - retrucou Banford, sentindo que ele a estava a provocar. Aquela estranha e suave autoconfiança que ele tinha, aquele seu olhar brilhante e profundo, contendiam-lhe com os nervos naquela noite.
- Mas talvez - disse ele, suave e cortês - não goste de que eu venha tomar chá sem casaco. Não me lembrei disso.
- Oh, não, não me importo - disse Banford, embora de facto se importasse.
- Não acha que será melhor ir buscá-lo? - perguntou ele.
Os olhos escuros de March viraram-se lentamente para ele.
- Não, não se incomode - disse, num estranho tom nasalado. - Se se sente bem como está, pois deixe-se estar. - Falara de uma forma friamente autoritária.
- Sim - respondeu ele -, sinto-me bem, isto se não estou a ser descortês...
- Bom, isso é normalmente considerado como sinal de má educação - disse Banford. - Mas nós não nos importamos.
- Deixa-te disso! "Considerado sinal de má educação"... - exclamou March, algo intempestiva. - Quem é que considera isso sinal de má educação?
- Ora essa, Nellie! Consideras tu! E até agora sempre o disseste em relação a toda a gente!... - disse Banford, empertigando-se um pouco por detrás dos óculos e sentindo a comida atravessar-se-lhe na garganta.
Mas March voltara a ter aquele seu ar vago e ausente, mastigando a comida como se não tivesse consciência de o estar a fazer. E o jovem observava as duas com olhos vivos e atentos.
Banford sentia-se ofendida. Pois, apesar de toda aquela suavidade e cortesia com que ele sempre falava, o jovem parecia-lhe ser mas era um grande descarado. E não gostava de olhar para ele. Não gostava de encarar aqueles olhos claros e vivos, aquele estranho fulgor que sempre tinha no rosto, aquela barba fina e delicada que lhe ornava as faces, aquela pele estupidamente vermelhusca que, contudo, parecia sempre incendiada por um estranho calor de vida. Quase que se sentia doente ao olhar para ele. Pois a qualidade da sua presença física era demasiado penetrante, demasiado ardente.
Depois do chá, o serão era sempre muito calmo. O jovem raramente saía, raramente ia até à aldeia. Por via de regra, costumava ficar a ler, pois era um grande leitor nas horas vagas. Isto é, quando começava, deixava-se absorver totalmente pela leitura. Mas nunca tinha muita pressa de começar. Muitas vezes, saía para dar longos e solitários passeios pelos campos, seguindo rente às sebes, envolto no negrume da noite. Demonstrava um singular instinto pela noite, vagueando, confiante, enquanto escutava os sons selvagens que lhe chegavam.
Contudo, naquela noite, tirou um livro do capitão Mayne Reid1 da estante de Banford e, sentando-se de joelhos escarranchados, mergulhou na leitura da história. O seu cabelo, de um louro-acastanhado, era um tanto comprido, assentando-lhe na cabeça como um grosso boné, apartado ao lado. Estava ainda em mangas de camisa e, debruçado para a frente sob a luz do candeeiro, com as pernas abertas e o livro na mão, todo o seu ser absorvido no esforço assaz estrénuo da leitura, dava à sala de estar de Banford um ar de quarto de arrumações. E isso irritava-a, ofendia-a. Pois no chão da sala tinha um tapete turco de cor vermelha e franjas negras, a lareira possuía azulejos verdes, de muito bom gosto, o piano estava aberto com a última música de dança encostada ao tampo - ela tocava muito bem, aliás - e nas paredes viam-se cisnes e nenúfares, pintados à mão por March. Além disso, com as achas a arderem trémula e suavemente, o fogo crepitando na grade da lareira, com os espessos cortinados corridos e as portas fechadas, em contraste com o vento que uivava lá fora, fazendo estremecer os pinheiros, a sala era confortável, elegante e bonita. E ela detestava a presença daquele jovem rude, alto e de grandes pernas, as joelheiras de caqui muito espetadas sob o tecido repuxado, para ali sentado com os punhos da sua camisa de soldado abotoados à volta dos grossos pulsos vermelhaços. De tempos a tempos, ele virava uma página, lançando de ora em vez um rápido olhar ao fogo que ardia e ajeitando as achas. Depois, voltava a mergulhar na solitária e absorvente tarefa da leitura.
March, na ponta mais afastada da mesa, fazia o seu croché de uma forma rápida, sacudida.
Tinha a boca estranhamente contraída, como quando sonhara que a cauda do raposo lhe queimava os lábios, o seu belo cabelo negro encaracolado caindo-lhe em madeixas ondulantes. Mas toda ela parecia perdida numa aura de devaneio, como se na verdade estivesse muito longe dali. Numa espécie de sonho acordado, parecia-lhe ouvir o regougar do raposo no vento que assobiava à volta da casa, um cântico selvagem e doce como uma louca obsessão. Com as suas mãos rosadas e bem feitas, desfiava vagarosamente o algodão branco num croché lento, desajeitado.
Banford, sentada na sua cadeira baixa, tentava igualmente ler. Mas sentia-se algo nervosa no meio daqueles dois. Não parava de se mexer e de olhar em volta, ouvindo o sibilar do vento enquanto espreitava furtivamente ora um ora outro dos seus companheiros. March, de costas direitas contra o espaldar da cadeira, as pernas cruzadas sob as calças justas, entregue ao seu croché lento, laborioso, também a deixava preocupada.
- Oh, meu Deus! - exclamou Banford. - Os meus olhos não estão nada bons esta noite. - E esfregava-os com os dedos.
O jovem levantou a cabeça, fitando-a com olhos claros e vivos, mas nada disse.
- Ardem-te, é, Bill? - perguntou March distraidamente.
O jovem recomeçou então a ler e Banford viu-se obrigada a voltar ao seu livro. Mas não conseguia estar quieta. Ao fim de algum tempo, olhou para March, um estranho sorriso maldoso desenhando-se-lhe no rosto magro.
-Um penny1 pelos teus pensamentos, Nellie - disse, de súbito.
March olhou em volta com um ar espantado, os olhos negros muito abertos, tornando--se então muito pálida, como se tomada de pânico. Tinha estado a ouvir o cântico do raposo, elevando-se nos ares com uma tão profunda, inacreditável ternura, enquanto ele errava em torno da casa.
- O quê? - perguntou num tom abstracto.
- Um penny pelos teus pensamentos - repetiu Banford, sarcástica. - Ou até mesmo dois, se forem assim tão profundos.
O jovem, do seu canto sob o candeeiro, observava-as com olhos vivos e brilhantes.
- Ora - volveu March, na sua voz ausente -, porque hás-de desperdiçar assim o teu dinheiro?
- Achei que talvez fosse bem gasto - replicou Banford.
- Não estava a pensar em nada de especial, apenas no soprar do vento à volta da casa - disse então March.
- Oh, céus! - retorquiu Banford. - Até eu podia ter tido um pensamento tão original como esse. Desta vez, receio bem ter desperdiçado o meu dinheiro.
- Bom, não precisas de pagar - disse March.
De repente, o jovem pôs-se a rir. Ambas as mulheres olharam então para ele, March com um certo ar de surpresa, corr� se só então se desse conta da sua presença.
- Mas então costumam sempre pagar em tais ocasiões? - perguntou ele.
- Oh, claro - disse Banford. - Pagamos sempre. Houve alturas em que tive de pagar à Nellie um xelim por semana, isto no Inverno, pois no Verão fica muito mais barato.
- O quê? Mas então pagam pelos pensamentos uma da outra? - disse o jovem, rindo.
- Sim, quando já não há absolutamente mais nada com que nos entretermos.
Ele ria por acessos, de uma forma brusca, sacudida, franzindo o nariz como um cachorrinho, um vivo prazer no riso dos olhos brilhantes.
- É a primeira vez que oUço falar em tal coisa - disse então.
- Acho que já a teria ouvido muitas vezes se tivesse de passar um Inverno em Bailey Farm - retrucou Banford err tom lastimoso.
- Mas então aborrecem-se assim tanto? - perguntou ele.
- Mais do que isso! - exclamou Banford.
- Oh! - disse ele com ar grave. - Mas por que é que se hão-de aborrecer?
E quem não se aborreceria? - respondeu Banford.
-- Lamento muito saber disso - disse cu Ião ele com solene gravidade.
- E é mesmo de lamentar, especialmente He pensa que se vai divertir muito por aqui - volveu Banford.
Ele olhou-a demoradamente, um ar de seriedade estampado no rosto.
- Bom - disse, com aquela sua jovem e estranha gravidade -, por mim sinto-me aqui muito bem, até me divirto bastante.
- Pois folgo em ouvi-lo - retrucou Banford. E voltou ao seu livro. Apesar de ainda não ter trinta anos já se viam nos seus cabelos finos, algo frágeis e ralos, muitos fios grisalhos. O rapaz, não tendo baixado os olhos para o livro, fitava agora March, que permanecia sentada entregue ao seu laborioso croché, os olhos esbugalhados e ausentes, a boca crispada. Tinha uma pele quente, ligeiramente pálida e fina, um nariz delicado. A boca crispada dava-lhe um ar azedo. Mas esse aparente azedume ira contrariado pelo curioso arquear das sobrancelhas negras, pela amplitude do seu olhar, um ar de maravilha e incerteza nos olhos espantados. Estava outra vez a tentar ouvir o raposo, que entretanto parecia ter-se afastado, errando agora nas lonjuras da noite.
O rapaz, sentado junto ao candeeiro, o rosto erguido assomando por sob o rebordo do quebra-luz, observava-a em silêncio, um ar atento nos olhos arredondados, muito vivos e claros. Banford, mordiscando os dedos, irritada, olhava-o de soslaio por entre os cabelos caídos. Quedando-se sentado numa imobilidade de estátua, o rosto avermelhado inclinado por sob a luz para emergir um pouco abaixo desta no limiar da penumbra, ele continuava a observar March com um ar de absorta concentração. Esta, erguendo subitamente os grandes olhos negros do croché, olhou-o por seu turno. E, ao encará-lo, soltou uma pequena exclamação de sobressalto.
- Lá está ele! - gritou de modo involuntário, como alguém terrivelmente assustado.
Banford, estupefacta, passeou os olhos pela sala, endireitando-se na cadeira.
- Mas o que é que te deu, Nellie? - exclamou ela.
Mas March, um leve tom rosa nas faces ruborizadas, estava a olhar para a porta.
- Nada! Nada! - respondeu de mau modo. - Já não se pode falar?
- Pode, claro que pode - disse Banford. - Desde que tenha algum sentido... Mas que querias tu dizer?
- Não sei, não sei o que quis dizer - replicou March, impaciente.
- Oh, Nellie, espero que não estejas a tornar-te - nervosa e irritável. Sinto que não poderia suportá-lo! Mais isso, não! - disse a pobre Banford, num ar assustado. - Mas a quem te referias? Ao Henry?
- Sim, suponho que sim - declarou March, lacónica. Nunca teria tido coragem de falar do raposo.
- Oh, meu Deus! Esta noite estou com os nervos arrasados - lamentou-se Banford.
Às nove horas, March trouxe um tabuleiro com pão, queijo e chá, pois Henry declarara preferir uma chávena de chá. Banford bebeu um copo de leite acompanhado com um pouco de pão. E mal acabara ainda de comer quando disse:
- Vou-me deitar, Nellie. Esta noite estou uma pilha de nervos. Não vens também?
- Sim, vou já, é só o tempo de ir arrumar o tabuleiro - respondeu March.
- Não te demores, então - disse Banford, algo agastada. - Boa noite, Henry. Se for o último a subir, não se esqueça do lume, está bem?
- Sim, Miss Banford, não me esquecerei, esteja descansada - replicou ele em tom tranquilizador.
Enquanto Banford subia as escadas já de palmatória na mão, March acendia entretanto uma vela a fim de ir até à cozinha. Ao voltar à sala, aproximou-se da lareira e, virando-se para ele, disse-lhe:
- Suponho que podemos contar consigo para apagar o lume e deixar tudo em ordem, não? - Estava de pé, uma mão apoiada na anca, o joelho flectido, a cabeça timidamente desviada, um pouco de lado, como se não pudesse olhá-lo de frente. De rosto erguido, ele observava-a em silêncio.
- Venha sentar-se aqui um minuto - disse então.
- Não, tenho de ir andando. Jill está à minha espera e pode ficar inquieta se eu não for já.
- Porque se sobressaltou daquela maneira há bocado? - perguntou ele.
- Mas eu sobressaltei-me? - retorquiu ela, olhando-o.
- Ora essa! Ainda há instantes - disse ele. - Na altura em que você gritou.
- Oh, isso! - exclamou da. - Bom, é que o tomei pelo raposo! - E contraiu o rosto num estranho sorriso, meio embaraçado, meio irónico.
- O raposo! Mas porquê o raposo? - inquiriu ele com grande suavidade.
- Bom, é que no Verão passado, numa tarde em que tinha saído de espingarda, vi o raposo por entre as ervas, quase ao pé de mim, a olhar-me fixamente. Não sei, suponho que foi isso que me impressionou. - E voltou a virar a cabeça, balouçando ao de leve um dos pés, com um ar constrangido.
- E matou-o? - perguntou o rapaz.
- Não, pois ele pregou-me um tal susto, ali a olhar muito direito para mim, que o deixei afastar-se. Mas depois voltou a parar, virando-se então para trás e olhando-me como que a rir-se...
- Como que a rir-se! - repetiu Henry, rindo--se por seu turno. - E isso assustou-a, não foi?
- Não, ele não me assustou. Apenas me impressionou, mais nada.
- E pensou então que eu era o raposo, não é? - disse ele, rindo daquela forma estranha, sacudida, um ar de cachorrinho no nariz franzido.
- Sim, na altura pensei - respondeu ela. - Se calhar, e ainda sem o saber, não me saiu da cabeça desde então.
- Ou talvez você pense que eu vim cá roubar-lhe as galinhas ou algo assim - retorquiu ele, naquele seu riso juvenil.
Mas ela limitou-se a olhá-lo com um ar vago e ausente nos grandes olhos negros.
- E a primeira vez - disse então ele - que me confundem com um raposo. Não quer sentar-se por um minuto? - Falava agora num tom de grande suavidade, meigo e persuasivo.
- Não, não posso - volveu ela. - Jill deve estar à espera. - Mas deixou-se ficar especada, um pé a bambolear, o rosto desviado, ali parada no limiar do círculo de luz.
- Mas não quer então responder à minha pergunta? - disse ele, baixando ainda mais a voz.
- Não sei a que pergunta se refere.
- Sabe, sim. E claro que sabe. Eu perguntei-lhe se se queria casar comigo.
- Não, não devo responder a uma tal pergunta - replicou ela, categórica.
- Mas porque não? - E voltou a franzir o nariz, de novo tomado por aquele seu curioso riso juvenil. - E porque eu sou como o raposo? E por isso? - E ria-se com gosto.
Virando-se, ela fitou-o num olhar lento, demorado.
- Não deixarei que isso se interponha entre nós - disse ele então. - Deixe-me baixar a luz e venha sentar-se aqui um instante.
Enfiando a mão por baixo do quebra-luz, a pele vermelha quase incandescente sob o fulgor da lâmpada, baixou subitamente a luz até quase a apagar. March, sem se mover, quedou--se de pé em meio à obscuridade, indistinta, vaga, quase irreal. Então, ele ergueu-se silenciosamente, firmando-se nas suas longas pernas. E falava agora com uma voz extraordinariamente suave e sugestiva, quase inaudível.
- Deixe-se ficar um momento - disse. - Só um momento. - E pôs-lhe a mão no ombro. Ela virou-se então para ele. - Não acredito que possa realmente pensar que sou como o raposo - continuou ele com a mesma suavidade, uma leve sugestão de riso no tom algo trocista. - Não está a pensar nisso agora, pois não? - E, com extrema gentileza, atraiu-a para si, beijando-lhe suavemente o pescoço. Ela retraiu-se, estremecendo, e tentou escapar-lhe. Mas o braço dele, jovem e forte, fê-la imobilizar-se, enquanto ele voltava a beijá-la no pescoço com grande suavidade, pois ela insistia em desviar o rosto.
- Não quer responder à minha pergunta? Não quer? Agora, aqui mesmo... - voltou a repetir numa voz suave, arrastada, quase langorosa. Estava agora a tentar puxá-la mais para si, a tentar beijá-la no rosto. Beijou-a então numa das faces, junto ao ouvido.
Nesse momento, ouviu-se a voz de Banford, enfadada e azeda, a chamar do alto das escadas.
- É Jill! - exclamou March, endireitando--se, assustada.
Porém, ao fazê-lo, ele, rápido como um relâmpago, beijou-a na boca, um beijo corrido, quase de raspão. Ela sentiu que todo o seu ser se lhe incendiava, que todas as fibras lhe ardiam. Deu então um estranho grito, curto e rápido.
- Casa, não casa? Diga que sim! Casa? - insistiu ele suavemente.
- Nellie! Nellie! Porque é que te demoras tanto? - voltou a gritar Banford, numa voz fraca, distante, vinda da escuridão envolvente.
Mas ele mantinha-a bem segura, continuando a murmurar-lhe com intolerável suavidade e insistência:
- Casa, não casa? Diga que sim! Diga que sim!
March, com a sensação de estar possuída por um fogo abrasador, as entranhas a arder, sentindo-se destruída, incapaz de reagir, limitou-se a murmurar:
- Sim! Sim! Tudo o que quiser! Tudo o que quiser! Mas deixe-me ir! Deixe-me ir! Jill está a chamar!
- Não se esqueça do que prometeu - disse então ele, insidiosamente.
- Sim! Sim! Bem sei! - Falava agora num tom subitamente alto, com uma voz gritada, estridente, quase que um guincho. - Está bem, Jill, vou já!
Surpreendido, ele largou-a. Quase a correr, ela subiu então rapidamente as escadas.
Na manhã seguinte, depois de ter dado as suas voltas e tratado dos animais, pensando para consigo que até se podia ali viver muito bem, disse para Banford enquanto tomavam o pequeno-almoço:
- Sabe uma coisa, Miss Banford?
- Diga lá! O que é? - respondeu Banford, com o seu ar nervoso e afável de sempre.
Ele olhou então para March, ocupada a pôr geleia no pão.
- Digo-lhe? - perguntou-lhe.
Ela olhou para ele, o rosto invadido por um intenso rubor róseo.
- Sim, se se está a referir a Jill - respondeu ela. - Só espero que não vá espalhar por toda a aldeia, nada mais. - E engoliu o pão seco com uma certa dificuldade.
- Bom, que irá sair daí? - disse Banford, erguendo os olhos vazios e cansados, ligeiramente vermelhos também. Era uma figurinha fina, frágil, com um cabelo curto, delicado e ralo, de tons desmaiados, já algo grisalho no seu castanho-claro, caindo-lhe suavemente sobre o rosto macilento.
- Pois que pensa que possa ser? - indagou ele, sorrindo como quem está de posse de um segredo.
- Como hei-de eu saber?! - exclamou Banford.
- Não pode adivinhar? - insistiu ele, de olhos brilhantes, um sorriso de profunda satisfação estampado no rosto.
- Não, creio bem que não. Mais, nem sequer me vou dar ao trabalho de tentar.
- Nellie e eu vamo-nos casar.
Banford soltou a faca, deixando-a cair dos dedos magros e delicados como quem não tivesse qualquer intenção de voltar a comer com ela em dias da sua vida. E ficou ali a olhar, perplexa, os olhos atónitos e avermelhados.
- Vocês o quê?! - exclamou então.
- Vamo-nos casar. Não é verdade, Nellie? - disse ele, virando-se para March.
- Pelo menos é o que você diz - respondeu esta, lacónica. Mas de novo o rosto se lhe ruborizou num fulgor de agonia. E também ela se sentia agora incapaz de engolir.
Banford olhou-a qual pássaro mortalmente atingido, um pobre passarinho doente, abandonado e só. E, com um rosto em que se lia todo o sofrimento que lhe ia na alma, envolveu March, profundamente ruborizada, num olhar de espanto, pasmo e dor.
- Nunca! - exclamou então, sentindo-se desamparada e perdida.
- Pois é bem verdade - disse o jovem, um brilho maldoso nos olhos exuberantes.
Banford desviou o rosto, como se a simples visão da comida na mesa lhe desse agonias. E, como se estivesse realmente enjoada, quedou-se assim sentada durante algum tempo. Então, apoiando uma mão na borda da mesa, pôs-se finalmente de pé.
- Nunca acreditarei nisso, Nellie, nunca! - gritou. - É absolutamente impossível!
Havia na sua voz aflita e plangente um leve tom de desespero, de fúria, quase que de raiva.
- Porquê? Porque não deveria acreditar? - perguntou o jovem, com aquele seu tom de impertinência na voz suave e aveludada.
Banford olhou para ele do fundo dos seus olhos vagos e ausentes, como se ele não passasse de um qualquer animal de museu.
- Oh! - disse ela em voz fraca. - Porque ela não pode ser assim tão louca, não pode ter perdido o seu amor-próprio a um ponto tal. - Falava de forma desgarrada, como que à deriva, numa voz desanimada e dolente.
- Mas em que sentido é que ela iria perder o seu amor-próprio? - perguntou o rapaz.
Por detrás dos óculos, Banford olhou-o fixamente com um ar distante e ausente.
- Se é que já não o perdeu - disse.
Sob a insistência daquele olhar vago e abstracto, emergindo por detrás das grossas lentes, ele tornou-se muito vermelho, quase escarlate, o rosto febril, afogueado.
- Não estou a perceber nada - disse então.
- Se calhar, não. Aliás, não esperava que percebesse - respondeu Banford naquele seu tom suave, distante e arrastado, que tornava as suas palavras ainda mais insultuosas.
Ele inteiriçou-se na cadeira, quedando-se rigidamente sentado, os seus olhos azuis a brilharem, ardentes, no rosto escarlate. Fitava-a agora de sobrolho carregado, um ar de ameaça no rosto tenso.
- Palavra que ela não sabe em que é que se está a meter - continuou Banford na mesma voz plangente, arrastada, insultuosa.
- Mas que é que isso lhe importa, afinal de contas? - disse o jovem, irritado.
- Provavelmente muito mais do que a si - replicou ela, a voz simultaneamente dolente e venenosa.
- Ah, sim?! Pois olhe que continuo sem perceber nada! - explodiu ele.
- É natural. Aliás, não creio que o pudesse perceber - retorquiu ela, evasiva.
- De qualquer forma - disse March, empurrando a cadeira para trás e levantando--se, abrupta -, não serve de nada estar para aqui a discutir. - E, agarrando no pão e no bule do chá, dirigiu-se a passos largos para a cozinha.
Banford, como que em êxtase, passou uma mão pela testa, os dedos trémulos e nervosos errando-lhe ao longo dos cabelos. Depois, voltando costas, desapareceu escada acima.
Henry deixou-se ficar sentado, um ar rígido e carrancudo, de rosto e olhos em fogo. March andava de cá para lá, levantando a mesa. Mas Henry não arredava pé, paralisado pela raiva. Quase que nem dava por ela. Esta readquirira a sua habitual compostura, exibindo uma tez cremosa, macia, uniforme. Contudo, os lábios permaneciam cerrados, a boca crispada. Mas sempre que vinha buscar coisas da mesa, deitava-lhe um rápido olhar, espreitando-o com os seus grandes olhos atentos, mais por simples curiosidade do que por qualquer outro motivo. Um rapaz tão crescido, com um rosto tão carrancudo e vermelhusco! Ei-lo tal como agora estava, para ali sentado muito quieto. Além disso, parecia estar muito longe dali, tão distante dela como se o seu rosto afogueado não passasse de um simples cano vermelho de chaminé numa qualquer cabana perdida algures nos campos. E ela observava-o com a mesma distanciação, com a mesma objectividade.
Finalmente, ele levantou-se e, com um ar grave, saiu porta fora a grandes passadas, dirigindo-se para os campos de espingarda na mão. Só voltou à hora do almoço, o mesmo ricto demoníaco no rosto irado, mas com modos assaz delicados e corteses. Ninguém disse nada de especial, tendo ficado sentados em triângulo, cada um em sua ponta, todos com um ar abstracto, ausente, fechados no mesmo obstinado silêncio. De tarde, voltou a sair de espingarda na mão, retirando-se imediatamente após a comida. Voltou ao cair da noite com um coelho e um pombo, quedando-se então em casa durante todo o serão, quase sem dizer palavra. Estava furioso, enraivecido, com a sensação de ter sido insultado.
Banford tinha os olhos vermelhos, obviamente por ter estado a chorar. Mas os seus modos eram mais distantes e sobranceiros do que nunca, especialmente na forma como desviava o rosto quando ele, por acaso, calhava falar, como se o considerasse um vagabundo um reles intruso, enfim, um miserável qualquer da mesma laia, pelo que os olhos azuis do rapaz quase que se tornavam negros de raiva, uma expressão ainda mais carregada no rosto sombrio. Mas nunca perdia o seu tom de polidez sempre que abria a boca para falar.
March, pelo contrário, parecia rejubilar naquela atmosfera. Sentada entre os dois antagonistas, bailava-lhe no rosto um leve sorriso perverso, como que profundamente divertida com tudo aquilo. Quase que até havia uma espécie de complacência no modo como naquela noite trabalhava no seu lento e laborioso croché.
Uma vez deitado, o jovem deu-se conta de que as duas mulheres conversavam e discutiam no quarto delas. Sentando-se na cama, apurou o ouvido na tentativa de perceber aquilo que estavam a dizer. Mas não pôde ouvir nada, pois os quartos ficavam demasiado longe um do outro. Não obstante, foi-lhe possível distinguir o timbre brando e plangente da voz de Banford em contraponto com o tom de March, mais fundo e cavo.
Estava uma noite calma, silenciosa e glacial. Grandes estrelas cintilavam no céu, para lá dos cumes mais altos dos pinheiros. Atento, ele escutava e tornava a escutar. Na distância, ouviu o regougar do raposo, o ladrar dos cães que lhe respondiam das quintas. Mas nada disso lhe interessava. De momento, o seu único interesse era poder ouvir aquilo que as duas mulheres estavam a dizer.
Saltando furtivamente da cama, pôs-se de pé junto à porta. Mas, tal como antes, era-lhe impossível ouvir fosse o que fosse. Então, com todo o cuidado, começou a levantar o trinco e, ao fim de algum tempo, a porta deu finalmente de si. Depois, esgueirando-se sub-repticiamente para o corredor, deu alguns passos cautelosos. Mas as velhas tábuas de carvalho, geladas sob os seus pés nus, estavam com rangidos insólitos, inoportunos. Pé ante pé, deslizou então com todo o cuidado, sempre rente à parede, até atingir o quarto das raparigas. Imobilizando-se aí, junto à porta, susteve a respiração e apurou o ouvido. Era Banford quem estava agora a falar:
- Não, isso ser-me-ia pura e simplesmente insuportável. Um mês que fosse e estaria morta. Aliás, é isso mesmo que ele pretende, é claro. E esse o seu jogo, ver-me enterrada no cemitério. Não, Nellie, se fizeres uma coisa dessas, se casares com ele, não poderás ficar aqui. Eu nunca poderia viver com ele na mesma casa. Oh! Só o cheiro das roupas dele quase que me põe doente. E aquela cara sempre vermelha, sempre congestionada... Dá-me cá umas agonias que até se me revolvem as entranhas! Nem consigo comer quando ele está à mesa, parece que a comida não me passa da garganta. Que louca fui em deixá-lo cá ficar! Nunca nos devemos deixar levar pela nossa bondade, é o que é. Praticar boas acções paga-se sempre muito caro... E como um bumerangue, viram-se sempre contra nós...
- Bem, também já só faltam dois dias para se ir embora - disse March.
- Sim, graças a Deus! E, uma vez fora, não voltará a pôr os pés nesta casa. Sinto-me tão mal quando ele cá está!... E eu bem sei que ele mais não quer do que explorar-te, aproveitar--se de ti... E só isso que lhe interessa, nada mais. Ele não passa de um inútil, de um imprestável! Não quer trabalhar, só pensa em viver à nossa custa... Ah, mas para cá vem de carrinho, que comigo não conta ele!... Se te queres armar em parva, isso é lá contigo! Olha, Mrs. Burguess conheceu-o muito bem quando ele cá viveu. E sabes o que ela diz?... Que o velhote nunca conseguiu que ele fizesse qualquer trabalho direito. Estava sempre a escapar-se para andar por aí de espingarda na mão, tal como faz agora. E só disso que ele gosta, de andar para aí de espingarda! Oh, como eu detesto essa mania, meu Deus, como eu a odeio!... Tu não sabes no que te vais meter, Nellie, não sabes. Se casares com ele, ele vai fazer de ti parva! Mais tarde ou mais cedo, acaba por se pôr ao fresco e deixa-te para aí em apuros. Sim, sim, que eu bem sei!... Isto se não nos conseguir esbulhar de Bailey Farm... Ah, mas disso está ele livre, pelo menos enquanto eu viver!... Enquanto eu viver, ele nunca voltará a pôr aqui os pés, isso te garanto eu!... Sim, que eu bem sei o que iria sair daí. Não ia tardar muito que não começasse a armar em senhor, pensando que podia mandar em nós... Aliás, como já pensa que manda em ti.
- Mas não manda - replicou Nellie.
- Seja como for, ele pensa que manda. E é isso mesmo que ele quer, meter-se aqui e ser ele o dono e senhor. Sim, estou mesmo a vê--lo, a querer mandar em tudo! E será que foi para isso que decidimos instalar-nos aqui, para sermos escravizadas e brutalizadas por um tipo odioso e sanguíneo, um qualquer jornaleiro bestial? Oh, não há dúvida de que cometemos um terrível erro ao deixá-lo cá ficar! Nunca nos devíamos ter rebaixado a esse ponto. E eu que tanto tive de lutar com a gente desta terra para não ter de descer ao seu nível. Não, ele não vai cá ficar. Ah, e então hás-de ver!... Se não se puder instalar por aqui com armas e bagagens, vai voltar a desaparecer, a partir para o Canadá ou para qualquer outro lado, abandonando-te como se tu nunca tivesses existido. E lá ficarás tu completamente arruinada, para aí feita uma parva, objecto do escárnio de toda esta gente. E eu sei que nunca mais poderei ter paz, que nunca mais me poderei recompor...
- Pois vamos dizer-lhe que não pode cá ficar. Vamos dizer-lhe que não pode ser, que tem de partir, está bem? - disse March.
- Oh, não te incomodes! Sou eu quem lho vai dizer, isso e muito mais, antes de ele se ir embora. Não vai ser tudo como ele quer, pelo menos enquanto me restarem forças para falar, isso to garanto. Oh, Nellie, ele vai desprezar-te como besta que é, aquele imundo animal! Basta que lhe dês azo e vais ver. Ser-me-ia mais fácil acreditar num gato que não roubasse do que ter qualquer confiança nele. Ele é dissimulado, prepotente, egoísta da cabeça aos pés, frio como gelo. Só quer aproveitar-se de ti, nada mais. E quando já não lhe interessares, quando já não lhe servires para nada, pobre de ti!
- Bom, também não creio que seja assim tao mau... - disse March.
- Pois enganaste! Pensas isso porque contigo ele anda a disfarçar. Mas espera até o conheceres melhor e hás-de ver. Oh, Nellie nem aguento pensar nisso! Pensar em ti assim...
- Mas, querida Jill, tu não terás nada a ver com isso! Nada te acontecerá, não tens que ter receio...
- Ah, não? Nada me acontecerá, não é?... Isso dizes tu, mas eu sei que nunca mais terei um momento de descanço, que nunca mais voltarei a ser feliz. Não, Nellie, nunca mais serei feliz!... - E Banford pôs-se a chorar amargamente.
O rapaz, de pé do lado de fora da porta, pôde ouvir os soluços abafados da mulher. Depois, a voz de March, que no seu tom profundo, suave, terno, confortava, com gentileza e ternura, a amiga lavada em lagrimas.
Tinha os olhos desmesuradamente abertos, tão redondos e vazios que dir-se-ia conterem em si toda a imensidão da noite, além de que os ouvidos, como que descolados da cabeça, quase que pareciam querer saltar fora. Estava meio morto de frio, o corpo gelado e hirto. Então, deslizou silenciosamente de volta ao quarto, voltando a deitar-se na cama. Mas sentia uma dor aguda no alto da cabeça, como se esta lhe fosse estalar. Assim, não conseguia dormir nem estar quieto. Decidindo, pois, levantar-se, vestiu-se com todo o cuidado, evitando fazer barulho, e voltou a sair para o patamar. As mulheres estavam agora em silencio. Descendo cautelosamente as escadas, dirigiu-se então até à cozinha.
Uma vez aí, calçou as botas, pôs o sobretudo e pegou na espingarda. Não que tenha pensado em se afastar da quinta. Apenas pegou na espingarda, nada mais. Tão silenciosamente quanto possível, abriu a porta e saiu para o exterior, mergulhando assim no frio glacial daquela noite de Dezembro. Estava um ar parado, com as estrelas a cintilarem lá no alto por sobre os picos acerados dos pinheiros, recortando-se, sussurrantes, contra o céu límpido e claro. Dirigindo-se furtivamente para junto de uma sebe, olhou em volta à procura de caça. Porém, lembrou-se de repente de que não devia disparar para não assustar as mulheres.
Assim, ladeando os montes de tojo, cortando depois através do matagal por entre velhos e altos azevinhos, foi perscrutando a escuridão com olhos tão dilatados e brilhantes como os de um gato, simultaneamente negros e luzidios, capazes de penetrarem as trevas com tanta acuidade como se fosse dia. Um mocho piava monótona e lastimosamente junto de um velho carvalho. Avançando devagar, pé ante pé num passo furtivo, a espingarda bem firme na mão, ele seguia atento, ouvido à escuta, alerta ao menor ruído.
Ao chegar junto dos carvalhos da orla do bosque, parando por instantes para apurar melhor o ouvido, deu-se conta de que os cães da cabana vizinha, no alto da colina, tinham desatado subitamente a ladrar, como que alvoroçados, acordando assim os cães das quintas em redor que ladravam agora em resposta. E, de repente, teve a sensação de que a Inglaterra se tornava mais pequena e acanhada, que a própria paisagem como que se contraía na escuridão, que demasiados cães povoavam a noite com um estrépito semelhante a uma barreira de som, como um labirinto de sebes inglesas em que a vista se enredasse, baralhada e perdida. E sentiu que o raposo não tinha qualquer hipótese. Pois só podia ter sido o raposo a desencadear todo aquele tumulto.
Aliás, porque não pôr-se à espera dele? Na certa que devia vir por aí, farejando tudo em seu redor. O rapaz desceu então a colina até ao local onde a quinta e alguns raros pinheiros se acocoravam no escuro. Chegando junto ao comprido barracão, agachou-se numa esquina, em meio às trevas envolventes. Sabia que o raposo estava a chegar. E pareceu-lhe a ele que aquele devia ser o último da sua espécie naquela Inglaterra repleta de clamorosos latidos, ininterruptos e furiosos, correndo, acossado, por entre um nunca mais acabar de casas, casinhas e casinhotos.
Deixou-se estar sentado por longo tempo, olhos invariavelmente fixos no portão aberto, lá onde parecia haver uma pálida luz, quem sabe se vinda das estrelas ou do horizonte. Estava sentado num toro com a espingarda em cima dos joelhos, oculto num canto escuro. De quando em vez, ouvia os estalidos dos pinheiros. No celeiro, houve uma altura em que uma galinha, tendo caído do poleiro com um baque surdo, desatou a cacarejar, alvoroçada, pelo que ele se ergueu, estremecendo, e ficou a olhar, olhos e ouvidos muito abertos, pensando que tivesse sido um rato. Mas não, sentiu que não fora nada. Assim, voltou a sentar-se com a espingarda em cima dos joelhos e as mãos enfiadas debaixo dos braços para as aquecer, o olhar fixamente cravado na pálida luminosidade do portão aberto, sem um pestanejo sequer nos olhos firmes e atentos. Entrando-lhe pelas narinas, sentiu o odor quente, enjoativo e forte das galinhas que dormiam, pairando no ar frio e cortante.
E então... Uma sombra. Deslizando pelo portão, viu passar uma sombra. Concentrando o olhar num único e poderoso foco visual, viu então a sombra do raposo, viu o raposo rastejando sobre o ventre através do portão. Lá estava ele, de ventre rastejante como uma cobra. Sorrindo para consigo, o rapaz levou a arma ao ombro. Sabia perfeitamente como tudo se iria passar. Sabia que o raposo se ia dirigir para junto das tábuas da porta do galinheiro, pondo-se aí a farejar. E sabia que ele se ia quedar aí uns instantes, sentindo o cheiro das galinhas no interior. Então, pôr-se-ia de novo a rondar por ali, focinho rente ao chão junto às paredes do velho celeiro, à espera de descobrir por onde entrar.
A porta do galinheiro ficava ao cimo de uma ligeira subida. Tão suave e imperceptível como uma sombra, o raposo rastejou ao longo da subida e acocorou-se de focinho encostado às tábuas. Nesse preciso momento, ouviu-se o estrondo ensurdecedor do disparo da caçadeira ecoando entre os velhos edifícios, quase como se a noite tivesse explodido, mil e um estilhaços voando no ar. Mas o rapaz quedou-se na expectativa, olhar atento e brilhante. E viu então o ventre branco do raposo, as patas do animal debatendo-se no ar nas vascas da agonia. Depois, encaminhou-se para lá.
Em redor, a agitação e o tumulto eram indescritíveis. As galinhas debatiam-se e cacarejavam, os patos grasnavam, o pónei escouceava, enlouquecido. Mas a seu lado estava o raposo, o corpo percorrido pelos espasmos da morte. Debruçando-se sobre ele, o rapaz aspirou aquele característico odor vulpino.
Ouviu então o ruído de uma janela a abrir-se no andar de cima, chegando-lhe depois aos ouvidos a voz de March, inquirindo num grito:
- Quem está aí?
- Sou eu - disse Henry. - Acabo de disparar sobre o raposo.
- Oh, meu Deus! Sabe que quase nos matou de susto?
- Ah, sim? Lamento imenso.
- Mas porque é que se levantou?
- Ouvi-o, ou melhor, senti que ele andava por aqui.
- E então, matou-o?
- Sim, está aqui - disse o rapaz, de pé no meio do pátio, erguendo no ar o corpo ainda quente do animal. - Consegue vê-lo, não consegue? Espere um instante. - E, tirando a lanterna eléctrica do bolso, fê-la incidir no corpo morto do raposo, dependurado pela cauda na sua mão robusta. March viu então, em meio às trevas circundantes, a pelagem avermelhada, o ventre alvo, a mancha branca por debaixo do focinho pontiagudo, as patas pendentes, algo grotescas naquela estranha pose, abandonadas, sem vida. Não soube que dizer.
- E uma beleza - disse então ele. - Vai ficar com uma linda pele para poder usar quando lhe apetecer.
- Nunca me há-de ver com uma pele de raposa, disso pode ter a certeza - respondeu ela.
- Oh! - exclamou o rapaz, apagando a lanterna.
- Bom, acho que agora devia vir para dentro e voltar a deitar-se - aconselhou ela.
- Sim, provavelmente é o que farei. Que horas são?
- Que horas são, Jill? - perguntou March lá para dentro. Era uma menos um quarto.
Naquela noite, March teve outro sonho. Sonhou que Banford tinha morrido, e que ela, March, de coração despedaçado, chorava amargamente. Depois, tinha de pôr Banford num caixão. E o caixão não era mais do que a tosca caixa de madeira que tinham na cozinha, junto ao fogo, e da qual se serviam para guardar a lenha miúda. Este era o caixão, pois não havia mais nada que pudesse servir, pelo que March, perfeitamente desesperada, andava numa aflição doida à procura de qualquer coisa com que forrar a caixa, de qualquer coisa que a tornasse mais macia, de qualquer coisa com que pudesse também cobrir o pobre corpo morto da sua querida amiga. Pois não podia deixá-la ali deitada só com o seu roupão branco vestido, naquela horrível caixa de madeira. Assim, procurou e voltou a procurar, rebuscando tudo, pegando nisto e naquilo, examinando peça após peça para logo as pôr de lado, o coração opresso pela frustração de nada encontrar na agonia do seu sonho. E em todo o seu desespero subconsciente nada mais achou que pudesse servir, tão-só uma pele de raposo. Sabia que isso não estava certo, que não era próprio para o fim em vista, mas foi tudo o que pôde achar. E então dobrou a cauda do raposo, pousando nela a cabeça da sua querida Jill, e aproveitou a pele do mesmo para com ela cobrir a parte superior do corpo, de tal modo que este tinha o ar de jazer sob uma colcha escarlate, de um vermelho chamejante. À vista disso, desatou a chorar convulsivamente, em copioso pranto, para depois acordar e dar consigo banhada em lágrimas, escorrendo-lhe, ácidas, pelo rosto.
Pela manhã, a primeira coisa que ambas fizeram, tanto ela como Banford, foi saírem para ir ver o raposo. O rapaz colocara-o no barracão, pendurado pelas patas traseiras, a cauda inerte caída para trás. Era um belíssimo macho em pleno apogeu, revestido da sua magnífica pelagem de Inverno, espessa e farta, com uma bonita cor vermelho-dourada, tornando-se acinzentada ao passar para o ventre, este já de um branco alvíssimo. Na cauda, comprida e abundante, predominavam o preto e o cinzento, delicada amálgama que morria ao chegar à ponta, de um branco imaculado.
- Pobre animal! - disse Banford. - Se não fosse tão patifório, tão ladrão, era caso para ter pena dele.
March nada disse, quedando-se, absorta, com todo o seu peso assente num só pé, a anca saliente, o outro pé a arrastar, abandonado e indolente. As faces pálidas, abria os seus grandes olhos negros, como que hipnotizada pela visão do corpo morto do animal, suspenso de cabeça para baixo. Tinha o ventre tão branco, tão macio... Lembrava a branca alvura da neve, pensou ela. E passou-lhe docemente a mão por cima. A cauda, de um negro maravilhoso, resplandecente, era farta, roçagante, uma maravilha! E, passando-lhe também a mão por cima, sentiu-se estremecer. Repetidas vezes, mergulhou os dedos por entre a abundante pelagem da cauda, espessa e farta, percorrendo-a depois com a mão num lento movimento descendente. Que cauda maravilhosa, tão afilada e espessa, tão bela e resplandecente! E ei-lo ali morto! Os olhos escuros e ausentes, franziu a boca num esgar, os lábios contraídos. Depois, tomou então aquela cabeça nas mãos, quedando-se, absorta.
Henry andava por ali, de um lado para o outro, pelo que Banford acabou por se ir embora, virando-lhe ostensivamente as costas. March, com a cabeça do raposo nas mãos, ficou ao imóvel, mente perturbada e confusa. Estava pensativa, admirando aquele comprido focinho, alongado e esguio. Por qualquer razão, este lembrava-lhe uma colher ou uma espátula. E sentiu que semelhante coisa lhe era incompreensível. Para si, o animal era um bicho estranho, enigmático, fora da sua compreensão. E que belos bigodes prateados ele tinha, mais pareciam de gelo, quais finíssimas estalactites. As orelhas espetadas, cheias de pêlo por dentro, destacavam-se por sobre aquele comprido nariz de colher, delgado e esguio. Emergindo deste, viam-se uns dentes maravilhosamente brancos, lançados para a frente, dentes para abocanhar e morder, penetrando fundo nas entranhas da presa, dentes que despedaçavam, que rasgavam, que mordiam, dentes ávidos de sangue, ávidos de vida.
- É uma beleza, não é? - disse Henry, de pé, junto dela.
- Oh, sim! É um magnífico raposo! E bem grande! Ainda gostaria de saber de quantas galinhas deu ele cabo - retorquiu ela.
- De bastantes, estou certo. Pensa que será o mesmo raposo que viu no Verão?
- Acho que sim, que deve ser. Provavelmente é mesmo ele - volveu ela.
Ele observou-a, atento, sem contudo, chegar a qualquer conclusão. Em parte, ela parecia--lhe muito tímida, inexperiente, quase virginal, mas, por outro lado, revelava-se igualmente bastante austera, prosaica, azeda mesmo. Quando falava, aquilo que dizia dava--lhe sempre a sensação de não concordar com a sua enigmática expressão, destoando do que ressaltava dos seus grandes olhos negros.
- Vai esfolá-lo? - perguntou ela.
- Sim, depois de tomar o pequeno-almoço e de ir buscar uma tábua onde o possa pregar.
- Mas que cheiro tão forte que ele deita, palavra! PuahhL. Vou ter de lavar muito bem as mãos. Não sei que me deu para ser tão parva ao ponto de lhe pegar - disse então ela, olhando para a sua mão direita, aquela que antes passeara pelo ventre e pela cauda do animal, agora levemente manchada de sangue devido à marca escura que aquele tinha na pele.
- Já reparou como as galinhas ficaram tão assustadas mal o cheiraram? - perguntou ele.
- Sim, lá isso é verdade!
- Tenha cuidado não vá apanhar pulgas, olhe que ele está cheio delas!
- Oh! Pulgas!... - replicou ela com indiferença.
Nesse mesmo dia, veio mais tarde a ver a pele do raposo esticada e pregada numa tábua, dir-se-ia quase que crucificada. E sentiu um estranho mal-estar.
O rapaz continuava furioso. Andava por ali sem dizer palavra, de lábios cerrados, como se houvesse engolido parte dos queixos. Mas, como de costume, comportava-se de forma correcta, sempre cortês e afável. Não disse absolutamente nada sobre as suas intenções. E, além do mais, não abordou March o dia inteiro.
Naquela noite, deixaram-se estar na sala de jantar, pois Banford não queria voltar a vê-lo na sua salinha. Uma enorme acha ardia suavemente na lareira. Todos pareciam ocupados: Banford a escrever cartas, March a coser um vestido e ele a consertar qualquer pequeno utensílio. De tempos a tempos, Banford parava de escrever a fim de descansar os olhos, aproveitando então para dar uma olhadela em seu redor. O rapaz estava de cabeça baixa, debruçado sobre o seu trabalho, o rosto oculto entre os braços.
- Ora, vejamos! - disse Banford. - Qual o comboio em que pensa partir, Henry?
Ele levantou a cabeça, olhando de frente.
- No de amanhã de manhã - respondeu.
- Qual, no das oito e dez ou no das onze e vinte?
- No das onze e vinte, suponho eu - replicou ele.
- Mas isso é só depois de amanhã, não é? - disse Banford.
- Sim, é verdade, é só depois de amanhã.
- HummL. - murmurou Banford, voltando à sua escrita. Mas, na altura em que lambia conscienciosamente o envelope para depois o fechar, voltou a perguntar: - E quais são os seus planos para o futuro, se me permite a pergunta?
- Planos? - volveu ele, o rosto afogueado e colérico.
- Sim, sobre você e Nellie, se sempre vão por diante com as vossas intenções. Quando é que a boda terá lugar? - Falava num tom sarcástico, escarninho.
- Oh, a boda! - retorquiu ele. - Não sei.
- Mas não tem nenhuma ideia? - disse Banford. - Então você vai-se embora na sexta e deixa as coisas como estão?
- Bom, e porque não? Podemos sempre escrever-nos.
- E claro que sim. Mas eu gostava de saber por causa da quinta. É que, se a Nellie se vai casar assim de repente, vou ter de procurar outra sócia.
- Mas ela não poderia ficar aqui mesmo depois de casar? - perguntou ele, sabendo muito bem qual seria a resposta.
- Oh! - disse Banford. - Isto não é lugar para um casal. Primeiro, porque não há trabalho suficiente para ocupar um homem. E depois, o rendimento que isto dá é quase nulo. Não, é absolutamente impossível pensar em ficar aqui depois de casar. Absolutamente!
- Está bem, mas eu também não estava a pensar em ficar cá - respondeu ele.
- Óptimo, era isso mesmo que eu pretendia saber. E então a Nellie? Sendo assim, quanto tempo irá ela ficar aqui comigo?
Os dois antagonistas enfrentaram-se, olhos nos olhos.
- Isso já não lhe sei dizer - respondeu ele.
- Ora, vamos, deixe-se disso! - exclamou ela, desdenhosa e petulante. - Tem de ter uma ideia daquilo que pretende fazer, já que pediu uma mulher em casamento. A não ser que seja tudo conversa fiada.
- Conversa fiada? Porque havia de ser conversa fiada?... Penso voltar para o Canadá.
- E vai levá-la consigo?
- Evidentemente.
- Estás a ouvir isto, Nellie? - disse então Banford.
March, até aí de cabeça baixa sobre a costura, ergueu então o rosto, um acentuado rubor róseo nas faces pálidas, um riso estranho, sardónico, nos olhos negros, na boca franzida.
- E a primeira vez que ouço dizer que vou para o Canadá - disse.
- Bem, alguma vez tinha de ser a primeira, não é assim? - volveu o rapaz.
- Sim, suponho que sim - respondeu ela em tom de desprendido. E voltou à sua costura.
- Estás mesmo disosta a ir para o Canadá, Nellie? Achas que sim? - perguntou Banford.
March voltou a erguer os olhos.
E deixando descair os ombros, abandonando a mão no regaço, de agulha entre os dedos, respondeu:
- Depende do modo como tiver de ir. Não me parece que queira ir apertada numa terceira classe, como simples mulher de um soldado. - E acrescentou: - Receio não estar habituada a tais coisas.
O rapaz fitou-a de olhos brilhantes.
- Prefere então ficar por aqui enquanto eu vou à frente ver como correm as coisas? - inquiriu.
- Sim, se não houver outra alternativa - replicou ela.
- Assim é que é ter juízo. Não tomes qualquer compromisso definitivo, olha que é bem melhor - disse Banford. - Mantém-te livre para responderes sim ou não depois de ele ter voltado a dizer que já arranjou onde ficarem, Nellie. Qualquer outra atitude é uma loucura, uma loucura.
- Mas não acha - disse o jovem - que nos devíamos casar antes de eu partir?
Depois, conforme o caso, iriamos então juntos ou um primeiro e o outro depois.
- Acho que isso é uma péssima ideia! - exclamou Banford num grito.
Ela olhou em frente, os olhos errando, abstractos, pela sala.
- Bem, não sei - respondeu. - Vou ter de pensar nisso.
- Porquê? - pergroveitando a oportunidade para a fazer falar.
- Porquê? - repetiu ela. Repetira a pergunta em tom trocista, e, apesar do leve rubor que voltara a subir-lhe às faces, olhava para ele com um sorrido nos lábios. - Acho que há muitas e boas razoes para isso.
Ele observava-a em silencio. Sentiu que ela lhe escapava, que se conluiara com Banford contra ele. Lá estava de novo aquela estranha expressão, aqueles olhos sardónicos... E sabia que ela riria, trocista, de tudo aquilo que ele dissesse deste mundo de todo o género de vida que ele lhe oferecesse.
- É claro - disse então ele - que não tenciono obrigá-la a fazer nada contra vontade.
- Espero bem que não, ora essa! - exclamou Banford em ar indignado.
À hora de se irem deitar, Banford disse a March, na sua voz lamurienta:
- Levas-me a botija de água quente para cima, Nellie? Fazes-me esse favor?
- Sim, claro que sim - respondeu March, com aquela espécie de contrariada condescenda que tantas vezes revelava para com a sua querida e volúvel Jill.
As duas mulheres subiram então as escadas. Passado algum tempo, March disse lá de cima:
- Boa noite, Henry. Já não devo ir aí abaixo. Não se esqueça depois de apagar a luz e de tratar da lareira, está bem?
No outro dia, Henry apareceu de semblante carregado, um ar fechado no jovem rosto sombrio, dir-se-ia quase um menino amuado. Passou o tempo a cogitar, remoendo pensamentos sobre pensamentos. Teria gostado que March casasse com ele e o acompanhasse de volta ao Canadá. E, pelo menos até ali, sempre se convencera de que ela assim faria. Porque a queria, isso não sabia. Mas sabia que a queria. Desejava-a com um tal ardor que todo ele se contorcia de raiva ao saber-se contrariado. Na sua fúria juvenil, era para ele insuportável que o pudessem contrariar. Mas tinham--no contrariado... E isso era-lhe insuportável, absolutamente insuportável! Sentia-se possuído de uma tal fúria interior que nem sabia o que fazer. Mas optou por controlar-se, por refrear a sua raiva. Pois, apesar de tudo, as coisas ainda podiam vir a alterar-se. Ela ainda podia voltar para ele. E claro que sim. Tinha o dever de o fazer, era a sua obrigação. E tinha todo o direito, nada a podia impedir.
Lá para a tarde, o ambiente voltou a tornar--se bastante tenso. Ele e Banford tinham-se evitado durante todo o dia. De facto, Banford fora até à cidadezinha próxima no comboio das 11 e 20, pois era dia de mercado, devendo depois regressar no das 16 e 25. Quase ao cair da noite, Henry viu a sua figurinha esguia, vestida com um casaco azul-escuro e uma boina larga da mesma cor, a atravessar o prado vindo da estação. Deixou-se ficar onde estava, imóvel debaixo de uma pereira brava, a terra a seus pés juncada de folhas velhas e secas. E quedou-se a observar aquela figurinha azul que avançava tenazmente pelo prado inverniço, íngreme e escabroso. Tinha os braços cheios de embrulhos, pelo que avançava com grande lentidão, pequena e frágil como era, mas com aquela ponta de diabólica determinação que ele tanto detestava nela. Continuava oculto na sombra da pereira, quase invisível debaixo desta. E se os olhares pudessem tornar desejos em realidades, ela ver-se-ia tolhida por duas enormes grilhetas de ferro, rodeando-lhe os tornozelos à medida que avançava. "Não passas de um estuporzinho, essa é que é essa", murmurava ele entredentes através da distância. "Um estuporzinho, um reles estuporzinho. Espero que ainda venhas a pagar por todo o mal que me fizeste sem motivo algum. Espero bem que sim, meu grande estuporzinho. Espero que o venhas a pagar, e a pagar caro. E hás-de pagar, podes crer, se os desejos ainda têm algum valor. Meu estuporzinho, não passas de um estuporzinho asqueroso, é o que é."
Ela avançava com grande dificuldade, subindo lentamente a ladeira. Mas mesmo que ela escorregasse a cada passo, rolando por ali abaixo até um qualquer abismo insondável, ele não mexeria um dedo para a ajudar a transportar os embrulhos. Ah! Lá ia March, calcando a terra com o seu passo largo, de calções e casaquinho cintado! Descendo a colina a grandes passadas, dando mesmo algumas curtas corridas de quando em vez, toda embalada na sua grande solicitude e desejo de ir em socorro da sua pequenina Banford. O rapaz observava-a, furioso, o coração a transbordar de raiva. Vê-la a saltar valas, a correr que nem uma doida por ali abaixo como se a casa estivesse a arder, tudo isso só para ir ao encontro daquele objectozinho negro que rastejava colina acima! Assim, Banford parou, à espera que ela lá chegasse. E March, uma vez lá, pegou em todos os embrulhos, excepto num ramo de crisântemos amarelos. Eis tudo quanto Banford carregava agora, um ramo de crisântemos amarelos!
"Sim, ficas muito bem assim, não há dúvida", murmurou ele baixinho na penumbra do entardecer. "Ficas muito bem assim, para aí feita parva agarrada a um ramo de flores, lá isso ficas! Se gostas assim tanto de flores, toda abraçada a elas como vens, faço-tas para o chá, está descansada. E volto a dar-tas ao pequeno-almoço, aí volto, volto! Vou passar a dar-te flores, só flores e nada mais."
E quedou-se a observar a marcha das duas mulheres. Podia agora ouvir-lhes as vozes. March, franca como sempre, pondo um leve tom de repreensão na ternura da voz, Banford falando baixinho, como que a murmurar, de forma algo vaga e abstracta. Eram, evidentemente, duas boas amigas. Não conseguiu distinguir aquilo que diziam enquanto não chegaram junto da vedação que delimitava o prado adjacente à casa. Uma vez lá chegadas, viu então March transpor a cancela no seu jeito varonil, segurando todos os embrulhos nos braços, enquanto a voz rabugenta de Banford soava no ar parado:
- Porque é que não me deixas ajudar-te a levar os embrulhos? - Havia na sua voz um estranho tom de queixume, embargando-lhe as palavras. Ouviu-se então a voz de March, firme e sonora, respondendo com negligência:
- Oh, eu cá me arranjo. Não te preocupes. Tu é que tens de recuperar as forças, cansada como vens.
- Sim, isso é muito bonito - retrucou Banford, agastada. - Tu estás sempre a dizer "Não te preocupes" e depois passas o tempo toda ofendida porque ninguém te dá atenção.
- Mas quando é que andei ofendida? - perguntou March.
- Sempre. Andas sempre ofendida. Por exemplo, agora estás ofendida comigo por eu não querer que aquele rapaz venha viver cá para a quinta.
- Isso não é verdade, não estou nada ofendida - replicou March.
- Estás, que eu bem sei que estás. Quando ele se for embora, vais andar toda amuada por causa disso, tenho a certeza.
- Ah, sim? - volveu March. - Bom, veremos.
- Sim, infelizmente eu bem sei que vai ser assim. E dói-me pensar como tu te deixaste apanhar com tanta facilidade. Não posso imaginar como te podes ter rebaixado a esse ponto.
- Eu não me rebaixei coisíssima nenhuma - respondeu March.
- Então não sei que nome lhe dás. Deixar um rapaz como aquele, tão insolente e descarado, fazer de ti uma parva. Realmente não sei que ideia fazes tu de ti. Ou julgas que ele vai ter algum respeito por ti depois de te ter apanhado? Palavra que não gostaria nada de te estar na pele se casares com ele, pois não vai ser nada fácil descalçar essa bota.
- E claro que não gostarias. Aliás, as minhas botas são demasiado grandes para ti, além de não terem metade da elegância das tuas - disse March com mal disfarçado sarcasmo, arrependendo-se de seguida.
- Sempre pensei que fosses muito mais orgulhosa, palavra que sim. Uma mulher tem de se impor, tem de se fazer valer, especialmente tratando-se de um fulano como aquele. Porquê?... Porque ele é demasiado atrevido, eis porquê. Até mesmo na forma como se nos impôs logo de início.
- Nós é que lhe pedimos para ficar - objectou March.
- Mas só depois de ele quase nos ter obrigado a isso. E ele é tão arrogante e autocon-vencido. Meu Deus, como ele me irrita! Deixa--me sempre os nervos em franja, de tão insolente e provocador. E é-me simplesmente impossível perceber como é que tu podes permitir que ele te trate de uma forma tão reles.
- Isso não é verdade, eu não deixo que ele me trate de uma forma reles - respondeu March. - Não te preocupes com isso, nunca ninguém me tratará de uma forma reles. Nem mesmo tu, fica sabendo. - Havia um certo calor na sua voz, misto de ternura e desafio.
- Pois é, eu já sabia que ia acabar por pagar as favas - disse Banford amargamente. - É sempre assim, sou sempre eu quem leva com as culpas. Tenho a impressão que o fazes de propósito para me magoar.
Avançavam agora em silêncio, subindo a ladeira íngreme e ervosa. Ultrapassado o cume, continuaram depois por entre as urzes e o tojo. Do outro lado da sebe atrás da qual se ocultava, o rapaz seguia-as a curta distância, perdido nas sombras do crepúsculo. De vez em quando, através da enorme sebe de velhos espinheiros, altos como árvores, ele entrevia as duas figuras escuras a treparem colina acima. Ao chegar ao cimo da ladeira, viu a casa envolta nas sombras do crepúsculo, com uma velha e grossa pereira quase encostada à empena mais próxima e uma pequenina luz amarelada tremulando nas janelinhas laterais da cozinha. Ouviu depois o ruído do trinco correndo no ferrolho e viu a porta da cozinha a abrir-se, banhada em luz, quando as duas mulheres entraram. Portanto, já estavam em casa.
E com que então era isso que pensavam dele! Ele era uma espécie de ouvinte por natureza, sempre à escuta, de ouvido pronto, portanto, nunca ficava surpreendido com o que quer que ouvisse. Aquilo que as pessoas pudessem dizer a seu respeito nunca o afectava, pois, pessoalmente, isso era-lhe indiferente. Só se sentia bastante surpreendido com o modo como as mulheres se tratavam uma à outra. E detestava Banford com um ódio feroz, ao mesmo tempo que voltava a sentir--se atraído por March. Mais uma vez, algo dentro de si o impelia irresistivelmente para ela. Sentia haver um elo entre eles, um vínculo secreto a uni-los, algo de tão íntimo e reservado que excluía quaisquer terceiros, fazendo com que eles se possuíssem secretamente um ao outro.
E voltou a acreditar que ela acabaria por aceitá-lo. O sangue subitamente inflamado, acreditou que ela concordaria em casar com ele a breve trecho, muito provavelmente pelo Natal. Sim, pois o Natal já não vinha longe. Aquilo que ele desejava, fosse qual fosse a sequência, era conseguir levá-la a um casamento apressado e à sua efectiva consumação. Então, quanto ao futuro, isso depois se veria. Aquilo que desejava era que tudo acontecesse de acordo com os seus planos. Assim, naquela noite, esperava que ela aceitasse ficar a sós com ele depois de Banford ter subido para se ir deitar. Desejava poder tocar as suas faces suaves, cremosas, o seu rosto estranho, assustado. Desejava olhar de perto os seus grandes olhos negros, ler-lhe o temor nas pupilas dilatadas. E desejava mesmo poder pousar-lhe a mão no peito, sentir-lhe os seios macios sob o casaco. Só de pensar nisso, o coração batia-lhe com mais força, pulsando rápido e descompassado, tão grande era o seu desejo de o fazer. Queria certificar-se de que por baixo daquele casaco havia mesmo uns seios de mulher, suaves e macios. Pois ela andava sempre com aquele casaco de fazenda castanha tão hermeticamente abotoado até ao pescoço!
E parecia-lhe a ele que aqueles suaves seios de mulher, andando sempre aferrolhados dentro daquele uniforme, tinham em si algo de perigoso, de secreto. Além do mais, tinha a impressão de que eles deveriam ser muito mais suaves e macios, muito mais belos e adoráveis, encerrados assim naquele casaco, do que o seriam os seios de Banford, ocultos por baixo das suas blusas finas e dos seus vestidos de gaze. Banford tinha certamente uns seios pequenos e rijos, de uma dureza férrea, pensava ele para consigo. Pois, apesar de toda a sua fragilidade, hipersensibilidade e delicadeza, os seus seios deveriam ser duas pequeninas bolas de ferro, ao passo que March, debaixo do seu casaco de trabalho, rijo e grosseiro, teria certamente uns seios brancos e macios, de uma alvura, de uma suavidade por desvendar. E, enquanto assim pensava, sentia o sangue ferver-lhe nas veias, correndo, esbraseado, em frenética galopada.
Quando por fim, chegada a hora do chá, se decidiu a entrar, esperava-o uma surpresa. Surgindo à entrada da porta, já do lado de dentro, os olhos azuis brilhando-lhe, luminosos, no rosto vermelho e vivo, a cabeça ligeiramente descaída para a frente como era seu hábito, deteve-se ao entrar, hesitando um pouco no limiar da porta para observar o interior da sala, atento e cauteloso como sempre, antes de avançar. Trazia vestido um colete de mangas compridas. O seu rosto, qual baga de azevinho, assemelhava-se extraordinariamente a um qualquer elemento exterior que, de repente, ali tivesse irrompido, como se parte do mundo de lá de fora penetrasse portas adentro como um intruso. Nos escassos segundos em que se quedou, hesitante, à entrada da porta, apercebendo-se das duas mulheres sentadas à mesa, cada uma em sua ponta, observando-as então com olhos agudos e penetrantes. E, para seu grande espanto, verificou que March estava com um vestido de crepe de seda verde-escuro. Ficou boquiaberto, tal foi a surpresa. Ele não ficaria mais surpreendido se ela porventura aparecesse subitamente de bigode.
- Mas então - disse ele - afinal também usa vestidos?
Ela ergueu os olhos, duas fundas manchas róseas nas faces ruborizadas, e, franzindo a boca num sorriso, respondeu:
- É claro que sim. Que outra coisa esperava que eu usasse senão um vestido?
- Bom, um traje de rapariga do campo, é evidente - retorquiu ele.
- Oh! -- exclamou ela num tom de indiferença. - Isso é só para este sujo e imundo trabalho cá da quinta.
- Então não é esse o seu traje vulgar? - indagou ele.
- Não, pelo menos para trazer por casa - volveu ela. Mas não deixou de corar enquanto lhe servia o chá. Ele sentou-se à mesa, puxando a sua cadeira do costume, totalmente incapaz de desviar os olhos daquela figura. O vestido era um vestido inteiro, muito simples, de crepe azul esverdeado, com uma tira dourada cosida à volta da gola e outra a debruar as mangas. Era um vestido de mangas curtas, não passando do cotovelo, de corte direito, muito sóbrio, com uma gola redonda que deixava ver o seu pescoço alvo e macio. Os braços, fortes e musculados, de músculos firmes e bem feitos, já ele conhecia, pois vira-a muitas vezes de mangas arregaçadas. Contudo, ele olhava-a como que hipnotizado, mirando-a e remirando-a da cabeça aos pés.
Banford, sentada na outra ponta da mesa, não dizia palavra, mas manifestava o seu nervosismo na forma ruidosa como virava e revirava a sardinha que tinha no prato. Mas ele esquecera-se totalmente da sua existência, quedando-se, embasbacado, a olhar para March enquanto ia comendo o seu pão com margarina a grandes dentadas, sem sequer ligar ao chá já quase frio.
- Bem, nunca vi nada que mudasse assim tanto uma pessoa! - murmurou entre duas dentadas.
- Oh, meu Deus! - exclamou March, cada vez mais ruborizada. - Devo estar com um ar de bicho do outro mundo!
E, levantando-se rapidamente, pegou no bule e levou-o para a cozinha, voltando a pôr a chaleira ao lume. E quando ela se debruçou sobre a lareira, agachando-se, com o seu vestido verde colado ao corpo, o rapaz contemplou-a com olhos ainda mais esbugalhados do que antes. Através do crepe, as suas formas de mulher pareciam agora suaves e femininas. Ao voltar a erguer-se, dando alguns passos na cozinha, ele viu-lhe as pernas gráceis movendo-se, suaves, sob a saia curta cortada à moda. Calçara umas meias de seda preta e uns sapatinhos de verniz com graciosas fivelas douradas.
Não, não podia ser a mesma pessoa. Estava mudada, parecia-lhe alguém totalmente diferente. Acostumado a vê-la sempre vestida com os seus pesados calções, largos e folgados nas ancas, apertados nos joelhos, maciços como uma couraça, com umas grevas castanhas e pesadas botas, nunca lhe ocorrera que ela tivesse pernas e pés de mulher. E, de repente, vendo-lhe as pernas finas moldadas pela saia, dava-se conta disso, apercebia-se do seu ar feminino, acessível. Sentindo-se corar até à raiz dos cabelos, enfiou o nariz na chávena e sorveu o chá algo ruidosamente, facto que fez com que Banford se remexesse toda na cadeira. E, de súbito, algo de estranho sucedeu: sentiu-se um homem, já não um jovem mas sim um homem, um homem adulto, maduro. Sentiu-se um homem com todo o peso das graves responsabilidades do homem adulto. E uma estranha calma, uma espécie de gravidade abateu-se sobre ele, invadindo-lhe o espírito, dominando-lhe a mente. Sentiu-se um homem, calmo e tranquilo, a alma algo opressa pelo peso do seu destino de macho.
Suave e acessível no seu vestido... Este pensamento dominou-o com a força avassaladora de uma nova responsabilidade, de uma responsabilidade para sempre presente.
- Oh, por amor de Deus! Digam alguma coisa, não estejam assim tão calados! - explodiu Banford, enervada e indisposta. - Isto mais parece um funeral. - O rapaz olhou então para ela. Incapaz de suportar aquele rosto, ela viu-se obrigada a desviar a cabeça.
- Um funeral! - exclamou March, crispando a boca num sorriso. - Oh, isso vai ao encontro do meu sonho!
Viera-lhe subitamente à ideia a visão de Banford jazendo na caixa de madeira por único caixão.
- Porquê, estiveste a sonhar com um casamento? - disse Banford, com ácido sarcasmo.
- Sim, se calhar estive - respondeu March.
- Qual casamento? - perguntou o rapaz.
- Já não me lembro - retorquiu March.
Estava tímida e pouco à vontade naquela tarde, pois, apesar de usar um vestido, tinha um comportamento muito mais comedido do que com o seu uniforme de trabalho. Sentia-se desprotegida e algo exposta, quase imprópria, obscena mesmo, para ali vestida daquela forma.
Falaram então muito por alto da partida de Henry, marcada para a manhã seguinte, conversando de forma vaga e desinteressada, posto o que foram tratar dos habituais preparativos. Mas nenhum ousou falar daquilo que realmente lhe ia no espírito, mostrando-se bastante calmos e amigáveis durante toda a tarde. Banford praticamente não abriu a boca, apesar de lá por dentro se sentir tranquila, quase amável até.
Às nove horas, March trouxe o tabuleiro com o sempiterno chá e um pouco de carnes frias que Banford lá conseguira arranjar. Sendo esta a última ceia, Banford procurava não ser desagradável. Até sentia uma certa pena do rapaz, achando-se na obrigação de ser tão gentil quanto possível.
Quanto a ele, o seu maior desejo era que ela se fosse deitar, no que, por via de regra, era sempre a primeira. Mas ela deixou-se ficar sentada na cadeira, sob a luz do candeeiro, relanceando os olhos pelo livro de quando em vez e vigiando o lume. Pairava agora na sala uma profunda quietude. Então, em voz um tanto abafada March decidiu-se a quebrar o silêncio, perguntando a Banford:
- Que horas são, Jill?
- Dez e cinco - respondeu esta, olhando o relógio de pulso.
Depois, nada mais. De novo o silêncio. O rapaz erguera os olhos do livro preso entre os joelhos. Tinha no rosto largo e algo felino um ar de muda obstinação, nos olhos atentos e vivos a insistência da espera.
- E que tal ir para a cama? - disse finalmente March.
- Quando quiseres, estou pronta - volveu Banford.
- Oh, muito bem - disse March. - Vou arranjar-te a botija.
E assim fez. Uma vez preparada a botija de água quente, acendeu uma vela e levou a botija para cima. Banford deixou-se estar sentada, atenta ao menor ruído. Depois, reaparecendo ao cimo das escadas, March voltou a descer.
- Pronto, já está - disse então. - Não vais para cima?
- Sim, é só um minuto - respondeu Banford. Mas os minutos foram passando e ela continuou sentada na cadeira sob a luz do candeeiro.
Henry, cujos olhos, espreitando, observadores, de sob as sobrancelhas, brilhavam como os de um gato, o rosto parecendo cada vez mais largo e arredondado nos seus contornos felinos, na sua inalterada obstinação, ergueu--se então a fim de tentar a sua cartada.
- Acho que vou até lá fora ver se descubro a fêmea daquele raposo - disse. - Pode ser que ande por aí a rondar. Não quer vir também, Nellie, a ver se vemos alguma coisa? É só um minuto...
- Eu?! - exclamou March, erguendo os olhos para ele, um ar simultaneamente perplexo e interrogativo no rosto surpreso.
- Sim, você. Venha daí, vá... - insistiu ele. Era espantoso como a sua voz podia parecer tão quente, tão persuasiva, como podia tornar-se tão suave e insinuante. Ao ouvi-la, Banford sentiu o sangue ferver-lhe, o eco daquele som escaldando-lhe as veias.
- Venha, é só um minuto - teimou ele, baixando os olhos para ela, para aquele rosto erguido, pálido e inseguro.
E então, como que atraída pela força magnética daquele rosto jovem e corado que a olhava com insistente fixidez, ela acabou por se pôr de pé.
- Nunca pensei que alguma vez te atrevesses a sair a esta hora da noite, Nellie! - gritou Banford.
- Não faz mal, é só por um minuto - disse o rapaz, voltando os olhos para ela e falan-do-lhe num estranho tom de voz, quase que num uivo, agudo e sibilante.
March olhava ora para um ora para outro, parecendo abstracta e confusa. Banford levantou-se então por sua vez, preparando-se para a luta.
- Ora esta, mas isso é ridículo! Está um frio de rachar! Tu ainda acabas por morrer gelada com esse vestido tão fino. E ainda por cima com esses sapatecos que não aquecem nada. Não te admito que faças uma coisa dessas, ouviste?
Houve uma pequena pausa. Banford, toda encrespada, mais parecia um galo de briga, fazendo frente a March e ao rapaz.
- Oh, não acho que tenha de se preocupar - retorquiu ele. - Uns instantes ao relento nunca fizeram mal a ninguém. Vou buscar a manta que está em cima do sofá da sala de jantar. Vamos andando, Nellie?
Havia na sua voz tanta raiva, desprezo e fúria quando falava com Banford quanto de ternura e orgulhosa autoridade ao dirigir-se a March. Então esta disse:
- Sim, vamos andando.
E, virando costas, dirigiu-se com ele para a porta.
Banford, de pé no meio da sala, irrompeu de súbito em grande pranto, gritando e soluçando convulsivamente, o corpo sacudido por espasmos. Cobrindo o rosto com as suas pobres mãos, finas e delicadas, os ombros magros agitados por um tremor agónico, chorava desabaladamente. Já a chegar à porta, March olhou então para trás.
- Jill! - gritou ela fora de si, num tom desvairado, como alguém que desperta de repente. E deu a impressão de querer correr para junto da sua querida amiga.
Mas o rapaz tinha o braço de March bem sujeito sob a sua mão jovem e forte, pelo que ela não pôde dar um passo. E não sabia porque é que lhe era impossível mover-se. Tudo se passava como num sonho, quando o coração tenta empurrar o corpo para diante mas este é incapaz de se mover.
- Deixa estar - disse o rapaz com brandura. - Deixa-a chorar. Deixa-a chorar que é melhor. Mais tarde ou mais cedo, teria sempre de acabar por chorar. E as lágrimas ajudá-la--ão, aliviar-lhe-ão os sofrimentos. Só lhe podem fazer bem, podes crer.
Assim, arrastou March lentamente até à porta, obrigando-a a avançar. Mas não pôde impedi-la de lançar um último olhar para a pobre figurinha que ali ficava, de pé, no meio do quarto, o rosto entre as mãos, os ombros magros sacudidos por espasmos, chorando amargamente.
Ao chegarem à sala de jantar, ele agarrou na manta e disse-lhe:
- Vá, embrulha-te nisto.
Ela obedeceu e continuaram a avançar até atingirem a porta da cozinha, com ele sempre a segurá-la pelo braço, com ternura e firmeza, ainda que ele nem sequer se desse conta disso. Mas, ao ver a noite lá fora, teve um súbito movimento de recuo.
- Eu tenho de ir ter com a Jill! - exclamou, então. - Tenho, tenho! Tenho, sim, tenho!
O seu tom era peremptório. O rapaz soltou--lhe então o braço e ela voltou-se para dentro. Mas, voltando a agarrá-la, ele impediu-a de avançar.
- Espera um minuto - disse. - Espera um minuto. Mesmo que tenhas de ir, não vás ainda.
- Deixa-me! Deixa-me! - gritou ela. - O meu lugar é ao lado da Jill! Pobre pequenina, pobre querida, os seus soluços são de cortar o coração!
- Sim - disse o rapaz amargamente. - Cortam o coração, isso é verdade. O dela, o teu e também o meu.
- O teu coração? - perguntou March. Ele continuava a segurá-la pelo braço, impedindo-a de avançar.
- Sim, ou será que o meu coração não vale o dela? - respondeu ele. - Achas que não, é?
- O teu coração? - repetiu ela, incrédula.
- Sim, o meu, o meu coração! Ou julgas que não tenho coração? - E, agarrando-lhe a mão com fervor, num caloroso amplexo, comprimiu-a de encontro ao peito, levando-a até ao lado esquerdo. - Aí tens o meu coração - disse -, já que pareces não acreditar nele.
Foi o espanto que a fez ficar, prendendo-a ali. E sentiu então o poderoso bater do coração dele, forte e profundo, tão terrível como algo vindo do além. Sim, assemelhava-se a algo vindo dos abismos do além, a algo de medonho saído do outro mundo, a algo que a chamava, que a atraía irremediavelmente. E um tal apelo paralisou-a, invadindo-lhe o espírito, ecoando-lhe na alma, deixando-a fraca e indefesa. De imediato, esqueceu Jill. Pensar em Jill era-lhe doravante impossível. Não, não podia pensar nela. Sentia-se tão aturdida, tão confusa... Oh, aquele terrível apelo do exterior, aquele apelo do além!...
O rapaz enlaçou-a pela cintura, puxando-a ternamente para si.
- Vem comigo - disse com extrema suavidade. - Vem... Deixa que digamos um ao outro aquilo que temos para dizer.
E, arrastando-a para fora, fechou a porta atrás de si. Ela acompanhou-o então através da escuridão, seguindo pelo caminho do quintal, totalmente dominada pelo seu fascínio, pelo seu mistério. Logo havia ele de ter um coração que pulsasse daquela maneira! E logo havia de lhe ter posto a mão à volta da cintura, ainda por cima por debaixo da manta! Sentia-se demasiado confusa para pensar em quem ele era ou no que ele era.
Ele levou-a para dentro do barracão, puxando-a para um canto escuro onde havia um caixote de ferramentas com uma tampa, comprido e baixo.
- Sentemo-nos aqui um instante - disse então ele.
Obedientemente, ela sentou-se a seu lado.
- Dá-me a tua mão - continuou ele.
Ela deu-lhe ambas as mãos e ele tomou-as entre as suas. Jovem como era, sentiu-se estremecer.
- Casas comigo, não casas? Casas comigo antes de eu partir, não é verdade? - rogou ele.
- Porque não? Ao fim e ao cabo, não somos ambos um par de loucos? - respondeu ela.
Ele levara-a para aquele canto a fim de que ela não visse a janela iluminada sempre que olhasse para a casa através da escuridão do pátio e do quintal. Procurava mantê-la totalmente desligada do exterior, sozinha com ele ali dentro do barracão.
- Mas em que sentido é que somos um par de loucos? - perguntou ele. - Se quiseres voltar comigo para o Canadá, tenho um emprego e um bom salário à minha espera, além de que é um lugar calmo e agradável, perto das montanhas. E porque não casarás tu comigo? Sim, porque não havemos nós de nos casar? Gostaria muito de te ter lá comigo. Gostaria de saber que tinha alguém, alguém com quem me preocupar, alguém com quem pudesse viver o resto da minha vida.
- Mas ser-te-á fácil arranjar outra, outra que te convenha mais - objectou ela.
- Sim, isso é verdade, ser-me-ia fácil arranjar outra rapariga. Eu sei que sim. Mas nenhuma que eu realmente desejasse. Nunca encontrei nenhuma com quem realmente desejasse viver para sempre. Estás a ver, estou a pensar numa união para toda a vida. Se me casar, quero sentir que isso será para toda a vida. Quanto às outras raparigas... Bom, são apenas raparigas, boas para conversar e passear uma vez por outra, nada mais. Digamos, boas para passar um bom bocado, uns momentos de prazer. Mas quando penso na minha vida, então tenho a certeza de que ficaria bastante arrependida se tivesse de me casar com qualquer delas, disso não tenho dúvidas.
- Queres dizer que elas não dariam uma boa esposa?
- Sim, é isso. Ou antes, não é bem isso... Não digo que não cumprissem com seus deveres para comigo, o que eu quero dizer é que... Bom, a verdade é que não sei o que quero dizer. Só sei que, quando penso na minha vida e em ti, então as duas coisas combinam perfeitamente.
- E se não combinassem? - perguntou ela naquele seu tom estranho, algo sarcástico.
- Bem, eu acho que combinam. Deixaram-se então ficar calados durante algum tempo, ali sentados nas trevas do barracão. Desde que se apercebera de que ela era uma mulher, vulnerável e acessível, sentira-se tomado de uma estranha sensação, o espírito opresso e pesado. Não tinha a menor intenção de a possuir, antes pelo contrário. Estremecia à ideia de uma tal proeza, quase que amedrontado. Ela era uma mulher, finalmente vulnerável e acessível ao seu assédio, mas ele evitava antecipar aquilo que o futuro lhe poderia trazer, quase como se isso o apavorasse. Pois este surgia-lhe à semelhança de uma zona de trevas onde sabia que teria de entrar um dia, mas na qual, pelo menos para já, nem sequer queria pensar. Até porque ela era mulher e ele sentia-se responsável pela estranha vulnerabilidade que subitamente descobrira nela.
- Não - disse ela por fim. - Sou uma idiota, é o que é. Disso não restam dúvidas, sou mesmo uma idiota.
- Mas porquê? - perguntou ele.
- Por aceitar continuar com uma conversa destas.
- Referes-te a mim, é isso? - indagou ele.
- Não, refiro-me a mim. Aquilo que estou a fazer é uma asneira, uma rematada asneira.
- Mas porquê? Será porque realmente não queres casar comigo?
- Oh, não é isso. E que, na verdade, não sei se sou contra ou a favor de uma tal ideia, só isso. Não sei, realmente, não sei.
Ele olhou-a através das trevas, perplexo e confuso. Não fazia a menor ideia do que ela pretendia dizer com aquilo.
- E também não sabes se gostas ou não de estar agora aqui sentada ao pé de mim? - perguntou então.
- Não, realmente não sei. Não sei se gostaria de estar noutro lado ou se prefiro estar aqui. Não sei, realmente não sei.
- Gostarias de estar ao pé de Miss Banford? Gostarias de ir para a cama com ela, é isso? - perguntou ele, em tom de desafio.
Ela quedou-se longo tempo silenciosa antes de responder.
- Não - disse por fim. - Não gostaria.
- E achas que gostarias de passar toda a vida ao pé dela? De ficar com ela até estares velha e de cabelos brancos? - continuou ele.
- Não - respondeu ela sem grandes hesitações. - Não me estou a imaginar a mim e à Jill, duas velhas, a vivermos juntas.
- E não achas que quando eu for velho e tu também já fores velha poderemos ainda estar juntos, juntos como agora estamos? - perguntou então ele.
- Bom, não como agora estamos - volveu ela. - Mas acho que posso imaginar... Não, não posso. Não consigo imaginar-te velho. Além de que isso é horrível!
- O quê, ser velho?
- Sim, é claro.
- Não na devida altura - retorquiu ele. - Mas isso ainda vem longe. Há-de chegar, é claro, mas quando chegar gostaria de pensar que também tu lá estarás, que teremos envelhecido os dois juntos.
- Como dois velhos aposentados num asilo de terceira idade - disse então ela secamente.
Aquela espécie de humor disparatado que ela tinha deixava-o sempre espantado. Nunca percebia muito bem aquilo que ela queria dizer. Provavelmente, nem ela mesma o sabia.
- Não - respondeu ele, chocado.
- Não percebo porque estás para aí a repisar isso da velhice - disse ela então. - Ainda não tenho noventa anos, que eu saiba.
- E alguém disse que os tinhas, por acaso? - replicou ele, ofendido.
Virando a cara, ficaram então calados por algum tempo, entregues aos seus pensamentos.
- Não gosto que faças pouco de mim - disse então ele.
- Ah, não? - volveu ela, num tom enigmático.
- Não, porque neste momento eu estou a falar a sério. E quando estou a falar a sério não gosto de brincadeiras.
- Queres dizer que ninguém deve fazer troça de ti - retorquiu ela.
- Sim, é isso. E também significa que eu próprio não estou disposto a brincar. Quando me acontece estar sério é assim, não gosto de brincadeiras ou de troças.
Ela ficou silenciosa por alguns instantes.
Depois, numa voz vaga, abstracta, algo dolorida mesmo, disse então:
- Não, não estou a fazer pouco de ti.
Ele sentiu-se como que tomado por uma onda de calor, o coração pulsando-lhe rápido e quente.
- Então acreditas em mim, não é verdade? - perguntou.
- Sim, acredito em ti - replicou ela, numa voz onde ressaltava algo do seu velho cansaço, da sua habitual indiferença, como se só cedesse por já estar cansada e farta. Mas ele não se importou, só dando ouvidos ao entusiasmo que lhe ia no coração, inflamado e jubiloso.
- Concordas então em casar comigo antes de eu partir, digamos, lá pelo Natal? Concordas?...
- Sim, concordo.
- Óptimo! - exclamou ele. - Então está combinado.
E deixou-se estar sentado em silêncio, quase que inconsciente, o sangue fervendo-lhe nas veias, correndo, escaldante, num estontea-mento de vertigem, pulsando, frenético, num formigar alucinado, todas as suas fibras em fogo, nervos, dobras, circunvoluções. Limitou-se tão-só a apertar-lhe ainda mais as mãos de encontro ao peito, quase sem dar por isso. Quando esta curiosa paixão começou, finalmente, a acalmar, pareceu então despertar para o mundo.
- Seria melhor irmos andando, não achas? - perguntou, como se só então desse conta do frio que estava.
Ela levantou-se sem dizer palavra.
- Beija-me antes de irmos para dentro, agora que disseste que sim - pediu ele.
E beijou-a suavemente na boca com um beijo tímido e rápido, um beijo de jovem assustado. E este fê-la também sentir-se mais jovem, deixando-a assustada e maravilhada ao mesmo tempo, algo cansada também, muito, muito cansada, quase como se se sentisse prestes a adormecer.
Foram então para dentro. E lá estava Ban-ford na sala de estar, agachada junto ao fogo como se fosse uma bruxa, uma estranha bruxinha pequena e mirrada. Ao entrarem, ela olhou em volta com uns olhos avermelhados, mas não se levantou. E ele pensou que ela tinha um ar assustador, sobrenatural, para ali demoníaco, fez uma figa com os dedos.
Banford reparou no rosto corado e jubiloso do jovem, parecendo-lhe que ele estava estranhamente alto, com um ar luminoso, inebriado. E no rosto de March havia uma curiosa expressão, delicada, suave, quase como que um halo, diáfano e leve. Porém, ela desejava poder ocultá-lo, encobri-lo, não deixar que ninguém o visse.
- Até que enfim que chegaram - disse Banford com rudeza.
- Sim, já chegamos - respondeu ele.
- Por algum motivo se demoraram tanto - volveu ela.
- Sim, lá isso é verdade. Já ficou tudo combinado. Vamos casar o mais depressa possível - replicou ele.
- Oh, com que então já está tudo combinado, hem!... Bem, espero que não venham depois a arrepender-se - disse Banford.
- Assim espero - retorquiu ele.
- Vais agora para a cama, Nellie? - perguntou então Banford.
- Sim, vou já.
- Então, por amor de Deus, vem daí! March olhou para o rapaz. Ele observou-a E ela a Banford, os olhos muito vivos e brilhantes no rosto radioso. March deitou-lhe um olhar ansioso, significativo. Gostaria de poder ficar ao pé dele. Gostaria de já se ter casado com ele, de que tudo já fosse um facto consumado. Pois sentia-se subitamente tão segura ao lado dele!... Oh, tão, tão segura!... Sentia-se tão estranhamente segura na sua presença, tão calma, tão tranquila!... Se ao menos pudesse dormir sob a sua protecção, se não tivesse de ir para cima com Jill... Sentia-se agora com medo de Jill. Naquele seu estado de semi-inconsciência, de terna lassidão e abandono, era para si uma agonia ter de subir com Jill, de se ir deitar com ela. E desejava que o rapaz a salvasse. Voltou então a olhá-lo, quase suplicante.
E ele, fitando-a com os seus olhos brilhantes, pareceu adivinhar algo do que lhe ia no espírito. Sentiu-se então angustiado e confuso por ela ter de ir com Jill.
- Não me vou esquecer do que me prometeste - disse, olhando-a bem nos olhos, mergulhando fundo dentro daqueles olhos tristes, assustados, de tal modo que dava a impressão de a abarcar por inteiro, de a envolver de corpo e alma no seu estranho olhar cintilante.
Então, ela sorriu-lhe, um ar lânguido e terno no rosto agora calmo. Voltava a sentir-se segura, segura com ele.
Mas, apesar de todas as precauções do rapaz, veio a deparar-se-lhe um sério revés. Na manhã da sua partida da quinta, convenceu March a acompanhá-lo até à cidade mais próxima, a cerca de oito milhas1 dali, em cujo mercado elas se costumavam abastecer. Uma vez aí, foram ao registo civil tratar dos banhos, declarando que desejavam casar-se. Ele estaria de volta por ocasião do Natal, pelo que o casamento deveria realizar-se por essa altura. Lá pela Primavera, esperava já poder levar March consigo para o Canadá, uma vez que a guerra tinha acabado de vez. Ainda que muito jovem, pusera já algum dinheiro de parte.
- Se possível, deve-se ter sempre algum dinheiro de reserva - declarou ele então.
Assim, ela viu-o partir no comboio que ia para oeste, pois o seu aquartelamento ficava na planície de Salisbury. Viu-o partir com os seus grandes olhos negros muito abertos, tendo a sensação de que, à medida que o comboio se afastava, parte da realidade da vida se afastava com ele, realidade representada por aquele rosto estranho, corado e bochechudo, por aquelas faces largas, por aquela expressão sempre imutada, excepto quando ensombrada pela fúria, pela ira dos sobrolhos carregados, pelos olhos extáticos, vivos e brilhantes, obsessivamente fixos numa estranha imobilidade. Era isto que agora acontecia. Debruçado da janela da carruagem enquanto o comboio se punha em andamento, lá estava ele a dizer--lhe adeus e a fitá-la de olhos fixos, uma expressão inalterada no rosto parado, nos músculos imóveis. Não havia qualquer emoção naquele rosto estático. Apenas os olhos se estreitaram num olhar fixo, intencional, quase como os de um gato ao deparar subitamente com algo que o faz estancar. Assim, os olhos do rapaz quedaram-se fixos e extáticos enquanto o comboio se afastava, deixando-a para trás com uma intensa sensação de solidão e abandono. Na falta da sua presença física, parecia-lhe que já nada restava dele, que ficava absolutamente vazia, sem nada de nada. Tão-só o seu rosto lhe ficara gravado na memória: as faces cheias, coradas, a expressão imutável, estática, o nariz comprido e rectilíneo, os olhos fixos que o encimavam. Tudo aquilo de que se lembrava era do modo como ele ria, franzindo cómica e subitamente o nariz, tal como um cachorrinho quando se põe a rosnar na brincadeira. Mas dele, de si próprio e daquilo que ele era, nada sabia, pois nada ficara dele no momento em que a deixou.
Nove dias depois de ter partido, eis que ele recebe a seguinte carta:
"CARO HENRY:
Tenho pensado muito no assunto, recapitulando tudo vezes sem conta, e parece-me agora que não há futuro para nós os dois, que é perfeitamente impossível pensarmos em ir por diante com uma tal aventura. Quando cá não estás é que vejo como fui uma louca. Enquanto te tenho ao pé, como que me deixas cega para a realidade das coisas. Fazes-me ver tudo de forma tão irreal que perco a noção das proporções, fico aturdida e confusa. Mas quando volto a ficar a sós com Jill, parece que recupero então o meu senso comum e me apercebo da grande asneira que estou a fazer e do modo injusto como te tenho tratado. Porque é tremendamente injusto para ti eu aceitar ir por diante com este romance quando, lá bem no fundo do meu coração, não consigo sentir por ti um verdadeiro amor. Bem sei que há muita gente que diz uma série de tolices e absurdos sobre o amor, mas eu não quero cair nisso. Quero, isso sim, ater-me aos factos concretos e agir com calma e sensatez. E é isso que me parece que não estou a fazer, já que não vejo por que razão irei eu casar contigo. Pois eu sei que não estou loucamente apaixonada por ti, como sempre imaginei que me iria suceder com os rapazes quando não passava ainda de uma jovem tonta, de uma rapariguinha com a cabeça cheia de fantasias. Tu és-me totalmente estranho, continuas a ser um estranho para mim e creio bem que nunca deixarás de o ser. Assim sendo, por que motivo casaria eu contigo? Quando penso na Jill, constato que ela está infinitamente mais próxima de mim. Conheço-a e tenho-lhe um grande amor, odiando-me a mim mesma como a uma besta sem coração se porventura a magoo infimamente que seja. Vivemos a nossa vida juntas e, mesmo que isso não possa durar para sempre, bem, enquanto durar sempre é uma vida, a nossa vida. E esta poderá durar enquanto ambas vivermos. Pois quem poderá saber quanto tempo iremos ainda viver? Ela é um pequenino ser, frágil e delicado, e talvez ninguém saiba bem como eu quão delicada ela é. Quanto a mim, sinto que posso muito bem cair da tripeça um dia destes. De ti é que eu sei nada, és-me totalmente desconhecido. E quando penso naquilo que tenho sido, no modo como tenho agido para contigo, então começo a recear ter alguns parafusos a menos. Custa-me pensar que uma tal senilidade mental se esteja a revelar tão precocemente, mas é isso que me parece estar a acontecer. Pois tu és-me de tal modo estranho, de tal modo diverso daquilo a que estou habituada, que não me parece que tenhamos nada em comum. E quanto a amor, a própria palavra me soa a falso, me parece absurda e impossível. Sei qual o significado do amor, até mesmo no caso da Jill, e por isso acho que no que nos diz respeito ele é uma impossibilidade absoluta. E depois mais isso de ir para o Canadá. Estou certa de que devia estar maluca de todo quando te prometi uma coisa dessas. E isso deixa-me profundamente assustada comigo mesma. Sinto que poderia muito bem vir a fazer uma loucura, a praticar qualquer acto realmente louco, de que não fosse responsável, e a ter de acabar os meus dias num manicômio. Es capaz de achar que já estou pronta para isso, tendo em conta o caminho que tenho vindo a trilhar, mas isso também não é lá muito lisonjeiro para mim. Graças a Deus que tenho aqui a Jill, pois a sua simples presença basta para me devolver o juízo. Caso contrário, não sei aquilo que faria. Poderia muito bem vir a ter um acidente com a espingarda uma noite destas. Amo a Jill e ela faz-me sentir calma e segura, restituindo-me a sanidade com as suas ternas reprimendas, com as suas amorosas zangas por eu ser tão doida e estouvada. Bom, mas aquilo que eu quero dizer é só isto: não achas melhor tentarmos esquecer tudo isto? Não posso casar contigo, pois é-me realmente impossível fazê-lo se acho isso errado. Foi tudo um grande erro, nada mais. Portei-me como uma doida varrida e tudo o que posso agora fazer é pedir-te desculpa. Por favor, peço-te que me esqueças e que não me voltes a procurar. A tua pele de raposo está quase pronta e parece-me de grande qualidade. Mandar-ta-ei pelo correio caso tenhas a amabilidade de me dizer se o teu endereço continua a ser este. Só te peço que aceites mais uma vez as minhas desculpas pela forma horrorosa e irresponsável como me comportei para contigo e que tentes esquecer o assunto.
A Jill manda-te os seus melhores cumprimentos. Os pais dela estão cá, vieram passar o Natal connosco.
Atenciosamente ELLEN MARCH."
O rapaz leu a carta no aquartelamento enquanto estava a limpar a sua mochila de apetrechos. Cerrando os dentes, ficou muito pálido por instantes, uma aura amarelada em torno dos olhos furiosos. Mas não disse palavra, deixando de ver e sentir fosse o que fosse, unicamente tomado de uma raiva surda, irracional, de uma fúria cega, quase demente. Derrotado! Derrotado mais uma vez! Frustrado! Falhado! E ele queria a mulher, ela enraizara-se-lhe na mente com a força obsessiva de um destino a cumprir, de uma sentença a executar. Possuir essa mulher era a sua perdição, o seu destino, a sua recompensa. Ela era para ele o céu e o inferno na terra, aquilo que não mais voltaria a encontrar. Cego de raiva e de fúria contida, assim passou a manhã. E se não estivesse tão ocupado a dar voltas à cabeça, magicando uma saída, planeando as mais diversas soluções, teria acabado por cometer uma loucura qualquer. Lá bem no fundo, sentia uma enorme vontade de gritar, de berrar, de ranger os dentes, de partir tudo à sua volta. Mas era demasiado inteligente para isso. Sabia que tinha de respeitar as normas sociais, que tinha de se refrear, pelo que não foi além do remoer de vinganças, do congeminar de planos, do matraquear de ideias e soluções. Assim, com os dentes cerrados e o nariz um tudo nada alçado, dando-lhe um ar extremamente curioso, qual estranha criatura demoníaca, os olhos fixos e extáticos, entregou-se aos trabalhos matinais meio ébrio de fúria e frustração mal contidas. Um só nome lhe dominava a mente: Banford. Não deu qualquer atenção ao efusivo palavreado de March, pois isso para ele não tinha importância absolutamente nenhuma. Mas, cravado na mente, havia um espinho que o torturava, dilacerante, profundo: Banford. Envenenando-lhe a mente, a alma, todo o seu ser, havia um espinho que o torturava, que o enlouquecia: Banford. E ele tinha de o arrancar. Tinha de arrancar aquele espinho da sua vida, tinha de arrancar aquele espinho que Banford encarnava, tinha de o fazer nem que morresse.
A mente obcecada por esta ideia fixa, decidiu ir pedir uma licença de vinte e quatro horas. Sabia que não tinha direito a ela, mas, possuído naquele dia de uma percepção particularmente aguda, de uma lucidez quase sobrenatural, soube de imediato onde devia dirigir-se: devia ir ter com o capitão. Mas como havia ele de descobrir o capitão? Naquele enorme aquartelamento, cheio de tendas e de barracões de madeira, não tinha a menor ideia de onde podia estar o seu capitão.
Porém, foi directo à cantina dos oficiais. E lá estava o seu capitão, de pé, a falar com três outros oficiais. Henry ficou à porta, em rígida posição de sentido.
- Posso falar com o capitão Berryman? - perguntou. Tal como ele, o capitão era natural da Cornualha.
- O que é que queres? - disse o capitão.
- Posso falar consigo, meu capitão?
- O que é que queres? - voltou a dizer o capitão, sem se mexer de onde estava, imóvel junto ao grupo dos seus camaradas.
Henry olhou o seu superior por alguns instantes sem dizer palavra.
- Não ma vai recusar, pois não, meu capitão? - perguntou então em tom de séria gravidade.
- Depende daquilo que for.
- Posso ter uma licença de vinte e quatro horas?
- Não, nem sequer tens direito a pedi-la.
- Eu sei que não, mas tenho de lha pedir.
- Pois bem, já tiveste a tua resposta.
- Por favor, não me mande embora, meu capitão.
Havia qualquer coisa de estranho naquele rapaz que ali estava à porta, tão rígido e insistente. E aquele capitão da Cornualha sentiu de imediato essa estranheza, fitando-o então com aguda curiosidade.
- Porquê, qual é a pressa? - perguntou ele, interessado.
- Estou a braços com um problema pessoal. Tenho de ir a Blewbury - respondeu o rapaz.
- Blewbury, hem? Alguma rapariga, é?
- Sim, é uma mulher, meu capitão. - E o rapaz, enquanto ali estava de pé, com cabeça ligeiramente inclinada para a frente, tornou-se - de súbito terrivelmente pálido, quase lívido, um intenso sofrimento estampado nos lábios cerrados, violáceos. Vendo isto, também o capitão se sentiu empalidecer, voltando-lhe então as costas.
- Bom, então vai lá - disse. - Mas, por amor de Deus, não te metas em barulhos nem me arranjes problemas, hem?
- Pode estar descansado, meu capitão. Muito obrigado.
Dito isto, saiu porta fora. O capitão, com um ar preocupado, tomou um gin com absinto. Henry conseguiu alugar uma bicicleta. Era meio-dia quando deixou o aquartelamento. Tinha de percorrer sessenta milhas por uma série de atalhos ensopados e lamacentos, mas, sem sequer pensar em comer, saltou para o selim e pôs-se imediatamente a caminho.
Na quinta, March dedicava-se a um trabalho que já em tempos tivera entre mãos. Um grupo de abetos escoceses erguia-se junto à extremidade do telheiro, sobre um pequeno talude por onde passava a vedação, serpenteando entre dois prados cobertos de urzes e tojo. A mais distante destas árvores estava morta. Morrera no Verão e para ali ficara com os seus ramos secos cheios de agulhas acastanhadas e murchas, erguendo-se no ar qual cadáver adiado. Não era uma árvore muito grande, além de que não havia dúvidas de que estava morta e bem morta. Assim, March decidira abatê-la, ainda que não estivessem autorizadas a cortar quaisquer árvores. Mas a verdade é que, naqueles tempos de falta de combustível, daria uma esplêndida lenha para alimentar a lareira.
Há já uma semana ou mais que ela andava a dar alguns golpes furtivos no tronco, desbastando-o de quando em vez à machadada durante uns cinco minutos, sempre junto à base e muito perto do solo, a fim de que ninguém notasse. Não tentara com a serra porque isso era um trabalho demasiado pesado para si. A árvore erguia-se agora com um profundo lanho na base do tronco, toda inclinada como que prestes a desabar, presa apenas por algum nó mais forte. Contudo, recusava-se a cair.
Estava-se em Dezembro, num fim de tarde de um dia frio e húmido. Uma névoa glacial subia dos bosques e dos vales, enquanto as trevas se adensavam por sobre os campos, prontas a tudo submergirem sob o seu manto negro. Viam-se ainda uns restos de claridade amarelada esmaecendo no horizonte, lá onde o sol começava a desaparecer por detrás dos bosques rasos perdidos na distância. March, pegando no machado, dirigiu-se para a árvore. O baque surdo dos seus golpes, ressoando, débeis, por sobre a quinta, soava de modo assaz ineficaz no ar invernio. Banford viera até cá fora vestida com o seu casaco grosso, mas, dado não trazer chapéu na cabeça, os seus cabelos, curtos e ralos, esvoaçavam sob o vento desagradável que se fazia sentir, zunindo por sobre o bosque, silvando por entre os pinheiros.
- Aquilo de que tenho medo - dizia Banford - é que venha a cair sobre o barracão e que lá tenhamos nós de ter mais um trabalhão a repará-lo.
- Oh, não me parece - respondeu March, endireitando-se e passando o braço pela testa alagada em suor. Estava terrivelmente afogueada, o rosto todo vermelho, com uma expressão bizarra nos olhos muito abertos, o lábio superior levantado, deixando à mostra os seus dois incisivos, muito brancos e brilhantes, que lhe davam um curioso ar de coelho.
Um homem baixo e corpulento, com um sobretudo preto e um chapéu de coco, chegou saltitando através do pátio. Tinha um rosto rosado e uma barba branca, com uns olhos pequeninos, de um azul pálido. Ainda não era muito velho, mas tinha ar de ser nervoso, no seu andar curto e miúdo.
- O que acha, pai? - perguntou Banford. - Não acha que pode atingir o barracão quando cair?
- O barracão? Não! Que ideia! - replicou o velhote. - E impossível atingir o barracão. A vedação já não digo, mas o barracão...
- A vedação não tem importância - disse March na sua voz forte.
- Como sempre, só digo asneiras - volveu Banford, afastando dos olhos o cabelo em desalinho.
A árvore mantinha-se de pé como presa de um só músculo, inclinada e plangente sob aquele vento forte. Crescera num talude entre dois prados, por sobre uma pequena vala agora seca. No topo do talude, erguia-se uma vedação solitária, algo desgarrada, subindo em direcção aos arbustos do cimo do monte. Erguiam-se ali diversas árvores, agrupadas naquele canto do campo, perto do barracão e do portão que dava para o pátio. Na direcção deste portão, estendendo-se horizontalmente ao longo dos prados monótonos e iguais, ficava a vereda, irregular e ervosa, que levava à estrada lá ao fundo. Aí havia uma outra vedação, já meio arruinada e periclitante arrastando-se campo fora com as suas compridas traves apodrecidas apoiadas em estacas curtas e grossas, bastante afastadas umas das outras. Os três estavam de pé, atrás da árvore, no canto do prado junto ao barracão, logo acima do portão do pátio. A casa, com as suas duas empenas e um alpendre, erguia-se, aprumada, no meio de um pequeno quintal relvado existente no pátio. Uma mulher atarracada e gorducha, de rosto corado, com um xaile de lã vermelha pelos ombros, surgiu então à porta, detendo-se depois sob o alpendre.
- Então, ainda não a deitaram abaixo? - exclamou, numa voz fraca e esganiçada.
- Está-se a pensar nisso - respondeu o marido. O tom com que falava com as duas raparigas era sempre algo trocista e mordaz. March não queria continuar a tentar derrubar a árvore enquanto ele ali estivesse. Pois, quanto a ele, nem um palito se incomodaria a levantar do chão se o pudesse evitar, queixando-se, à semelhança da filha, de ter um ombro apanhado de reumatismo. Assim, deixaram-se estar ali os três parados, momentaneamente imóveis e silenciosos na tarde fria, de pé junto ao pátio no canto mais afastado do campo.
Ouviram então o bater longínquo de um portão, pelo que viraram a cabeça para ver quem seria. Perdido na distância, vindo pela vereda verdejante, horizontal e plana, viram um vulto que nesse instante voltava a saltar para uma bicicleta, avançando aos solavancos por entre as ervas que atulhavam o caminho, em direcção ao portão da quinta.
- Mas é um dos nossos rapazes! Jack, creio - disse o velhote.
- Não, não pode ser - disse Banford por seu turno.
March virou também a cabeça, esticando o pescoço para ver melhor. E só ela reconheceu aquele vulto de caqui, corando sem dizer palavra.
- Não, não me parece que seja Jack - disse o velhote, fitando a distância com os seus olhinhos azuis, muito redondos sob as pestanas brancas.
Decorridos alguns instantes, a bicicleta surgiu à vista, sempre ziguezagueante, posto o que o ciclista se apeou junto ao portão. Era Henry, o rosto encharcado e vermelho, todo sujo de lama. Aliás, da cabeça aos pés, todo ele era lama.
- Oh! - exclamou Banford, como que subitamente receosa. - Mas é o Henry!
- O quê! - exclamou o velhote em voz surda. Tinha uma forma de falar muito curiosa, algo pastosa e rápida, como se andasse sempre a resmungar entredentes, além de também ser um pouco surdo. - O quê? O quê? Quem é? Quem é que disseste que era? O tal rapaz? O tal rapaz da Nellie? Oh! Oh! - E um sorriso irónico espelhou-se-lhe no rosto rosado, as pestanas brancas moven-do-se rápidas e trocistas.
Henry, afastando o cabelo molhado da fronte húmida e quente, já os tinha visto. E, ao ouvir o que o velhote dissera, o seu rosto jovem, afogueado e vermelho, pareceu incendiar-se num súbito fulgor faiscante, brilhando, luminoso, à luz crua daquela dia frio.
- Oh, estão todos aqui! - disse então ele, soltando aquele seu riso de cachorrinho, rápido e breve. Sentia-se tão afogueado e tonto de tanto pedalar que mal sabia onde estava. Encostando a bicicleta à vedação, saltou então por ela. Depois, sem entrar no pátio, trepou até ao canto onde ficava o talude.
- Bem, devo dizer que não estávamos à sua espera - disse Banford, lacónica.
- Sim, parece-me bem que não - respondeu ele, olhando para March.
Esta estava um pouco afastada, mantendo--se de pé com um joelho dobrado, um ar ausente no rosto inexpressivo, o machado pendendo-lhe da mão num gesto de abandono, com a ponta apoiada no chão. Tinha os olhos muito abertos, vazios e abstractos, com o lábio superior levantado e os dentes à mostra, dando-lhe aquele estranho ar de coelho, misto de fascínio e desalento. No exacto momento em que vira aquele rosto rubro e coruscante, tudo acabara para ela. Sentia-se tão indefesa como se estivesse amarrada de pés e mãos. Sim, no exacto momento em que vira a forma como aquela cabeça parecia adiantar-se, atirada para a frente, tudo acabara para ela.
- Bom, mas afinal quem é? Então, não me dizem quem é? - perguntou o velhote, sorridente e trocista, naquele seu tom resmungado.
- Ora essa, pai, bem sabe quem é. E o senhor Grenfel, de quem já nos ouviu falar - respondeu friamente Banford.
- Sim, acho que sim, já te ouvi falar dele. Mas, à parte isso, não sei praticamente nada a seu respeito - resmungou o ancião, com aquele seu curioso risinho sarcástico espelhado no rosto. - Como está? - acrescentou depois, estendendo subitamente a mão a Henry.
O rapaz apertou-lhe a mão como que surpreendido. Depois, voltaram a afastar-se.
- Então veio a pedalar todo o caminho desde a planície de Salisbury, não é assim? - perguntou o velhote.
- Sim, é verdade.
- Ah! Grande esticão!... E quanto tempo levou, hem? Muito tempo, não? Presumo que várias horas.
- A roda de quatro, sim.
- Quatro, hem? Sim, logo pensei que devia andar por aí. E então quando é que tem que voltar?
- Tenho licença até amanhã à tarde.
- Até amanhã à tarde, disse? Sim, senhor, muito bem. Ah! As raparigas não estavam à sua espera, pois não?
E o velhote, virando-se para as raparigas, olhou-as com os seus olhinhos trocistas, uns olhos redondos e azuis, de um azul pálido muito brilhante sob as pestanas brancas. Henry olhou também à sua volta. Começava a sentir-se um pouco embaraçado. Olhou então para March, que continuava imóvel, olhos fixos na distância como que a ver por onde andava o gado. Tinha a mão assente no cabo do machado, a lâmina negligentemente pousada no chão.
- Que estavam aqui a fazer? - perguntou ele, na sua voz suave e cortês. - A deitar abaixo uma árvore?
March parecia não o ouvir, extática como se estivesse em transe.
- É verdade - respondeu Banford. - Há já uma semana que andamos a tentar derrubá-la.
- Oh! Então têm feito todo o trabalho sozinhas, não?
- A Nellie é que tem, eu cá por mim não fiz nada - retorquiu Banford.
- Palavra? Nesse caso, deves ter tido muito trabalho - disse então ele, dirigindo-se directamente a March num tom de voz algo estranho, apesar de gentil e cortês. Mas ela não respondeu, mantendo-se um pouco de lado, os olhos obsessivamente fixos na distância, olhando os bosques lá ao fundo como que hipnotizada.
- Nellie! - gritou Banford em voz aguda. - Não sabes responder?
- Quem, eu? - exclamou March, só então se virando para os olhar. - Alguém falou comigo?
- Está na lua, é o que é! - resmoneou o velhote, virando o rosto num sorriso. - Deve estar apaixonada, hem, assim a sonhar acordada!...
- Falaste comigo, foi? - disse March, olhando então para o rapaz de uma forma estranha, como se acabasse de voltar de muito longe, um ar de dúvida nos olhos abertos, interrogativos, o rosto levemente ruborizado.
- Disse que deves ter tido muito trabalho com a árvore, que deves andar muito cansada - respondeu ele cortesmente.
- Oh, isso! Dei-lhe umas machadadas de quando em vez, pensando que acabaria por cair.
- Graças aos céus que não caiu durante a noite, caso contrário teríamos morrido de susto - disse Banford.
- Deixa-me acabar isto por ti, está bem? - pediu o rapaz.
March estendeu então o machado na sua direcção, o cabo virado para ele.
- Não te importas? - perguntou.
- Claro que não, se me deres licença - respondeu ele.
- Oh, cá por mim fico satisfeita quando a vir por terra! Só isso interessa, nada mais - volveu ela em tom negligente.
- Para que lado irá cair? - disse Banford. - Será que pode cair sobre o barracão?
- Não, não deve atingir o barracão - respondeu ele. - Acho que irá cair além, em terreno aberto. Quanto muito, poderá dar uma volta e cair sobre a vedação.
- Cair sobre a vedação! - exclamou o velhote. - Ora essa, cair sobre a vedação! Inclinada como está, com um ângulo destes?
Além de que ainda é mais longe do que o barracão! Não, sobre a vedação é que não vai cair.
- Realmente - atalhou Henry -, isso é muito improvável. Acho que tem razão, tem muito espaço livre para cair. E, deve cair em terreno aberto.
- Espero que não vá cair para trás, abatendo-se sobre as nossas cabeças! - disse o velhote, sarcástico.
- Não, isso não vai acontecer - respondeu Henry, tirando a samarra e o casaco. - Toca a andar, patos, fora daqui!
Vindos do prado acima, uma fila de quatro patos brancos com pintas acastanhadas, conduzidos por um macho castanho e verde, vinham disparados colina abaixo, vogando como barcos em mar encapelado, os bicos abertos, furiosos, enquanto desciam em grande velocidade por ali abaixo em direcção à vedação e ao pequeno grupo ali reunido, grasnando numa tal excitação que dir-se-ia trazerem novas da Armada Espanhola.
- Oh, grandes tontinhos, grandes tontinhos! - gritou Banford, indo até junto deles para os afugentar dali. Mas eles dirigiram-se impetuosamente ao seu encontro, abrindo os bicos amarelo esverdeados e grasnando como se estivessem excitadíssimos para lhe comunicar uma qualquer novidade.
- Aqui não há comida, não há nada para vocês. Esperem um bocado que já comem - dizia-lhes Banford. - Vá, vão-se embora, vão--se embora! Dêem a volta, vão para o pátio!
Mas, como eles não lhe obedeciam, ela decidiu-se a trepar a vedação a fim de ver se os desviava dali, de modo a que dessem a volta por debaixo do portão e entrassem no pátio. E lá foram eles atrás, a abanarem-se novamente todos excitados, sacudindo o rabo como popas de pequeninas gôndolas ao mergulharem por debaixo da grade do portão. Banford parou então no alto do talude, imediatamente acima da vedação, ficando ali de pé a olhar para os outros três lá em baixo.
Erguendo os olhos, Henry fitou-a, indo ao encontro daqueles olhos mirrados e fracos, daquelas pupilas arredondadas e estranhas que o miravam por detrás dos óculos. Perfeitamente imóvel, olhou então para cima, para a árvore inclinada e instável. E, enquanto olhava para o céu, como um caçador observando o voo da ave que se propõe abater, pensou para consigo: "Se a árvore cair da forma que parece indicar, dando uma volta no ar antes da queda, então aquele ramo além vai abater-se sobre ela, no ponto exacto em que ela está, de pé no cimo daquele talude."
Voltou então a olhá-la. Lá estava ela, a afastar os cabelos da testa, naquele seu gesto tão habitual e constante. No fundo do seu coração, ele já decidira que ela tinha de morrer. Uma força terrível, paralisante, pareceu nascer dentro de si à semelhança de um poder de que fosse ele o único detentor. Se se voltasse, se fizesse qualquer movimento, mesmo que ínfimo como um cabelo, na direcção errada, então aquele poder fugir-lhe-ia, esfumar-se-ia instantaneamente.
- Tenha cuidado, Miss Banford - disse então ele. E o seu coração como que se imobilizou, inteiramente possuído daquela vontade pura, daquele desejo indómito de que ela não se movesse.
- Quem, eu? Quer que eu tenha cuidado, é? - gritou-lhe Banford, numa voz possuída do mesmo tom sarcástico do pai. - Porquê, pensa que me pode atingir com o machado, é isso?
- Não, mas no entretanto pode dar-se o caso de ser a árvore a atingi-la - respondeu ele numa voz neutra. Contudo, o tom em que falou fê-la deduzir que ele estava tão-só a ser falsamente solícito no intuito de a levar a mover-se, no prazer de a ver vergar, obediente, sob a sua vontade.
- Isso é absolutamente impossível - disse ela então.
Ele ouviu-a. Contudo, manteve a sua imobilidade de estátua, quedando-se hirto e parado como um bloco de gelo, não fosse o seu poder esvair-se.
- Não, olhe que é sempre uma hipótese. Acho melhor descer por aquele lado.
- Oh, está bem, deixe-se disso! Vamos mas é a ver essa famosa arte dos Canadianos a abater árvores - replicou ela.
- Então, atenção! - disse ele, pegando no machado e olhando à sua volta para ver se tinha espaço livre.
Houve um momento de pausa, de pura imobilidade, em que o mundo pareceu deter--se, suspenso daquele instante. Então, a sua silhueta pareceu de súbito irromper do nada, avolumando-se gigantesca e terrível, para logo desfechar dois golpes rápidos, fulgurantes, um após outro em sucessão imediata, fazendo com que a árvore finalmente abatida, girasse lentamente, num estranho rodopiar de parafuso, fendendo o ar até descer sobre a terra como um súbito manto de trevas. E só ele viu aquilo que então aconteceu. Só ele ouviu o estranho grito que Banford soltou, um grito débil e abafado, quando viu os ramos superiores a abaterem-se, aquela sombra negra descendo, célere, sobre a terra, desabando, terrível, sobre si. Só ele viu como ela se encolheu, num gesto tímido e instintivo, recebendo na nuca toda a força da pancada. Só ele viu como ela foi atirada longe, como acabou por se estatelar, feita uma massa informe e retorcida, aos pés da vedação. Só ele, mais ninguém. E o rapaz viu tudo isto com uns olhos muito abertos e brilhantes, tão fixos e intensos como se observasse a queda de um pato-bravo que acabasse de abater. Estaria ferida, estaria morta? Não, estava morta. Morta!
De imediato, deu um grande grito. Simultaneamente, March soltou um grito agudo, selvagem, quase que um guincho, que ecoou longe na distância, repercutindo-se, sonoro, na tarde fria e parada. Quanto ao pai de Banford, emitiu um estranho urro, longo e abafado.
O rapaz saltou a vedação e correu para a figura ali caída. A nuca e a cabeça não passavam de uma massa informe, sangue e horror em partes iguais. Virou-a então de costas. O corpo fremia ainda em rápidas convulsões, secas e breves. Mas já estava morta, já estava de facto morta. Ele sabia que assim era, sentia-o na alma e no sangue. Cumpria-se assim aquela sua necessidade interior, aquela exigência vital, imperiosa, sendo ele o sobrevivente. Sim, fora ele quem sobrevivera, arrancado que fora o espinho que até então lhe revolvera as entranhas. Assim, pousou-a gentilmente no chão. Estava morta, disso não havia dúvidas.
Erguendo-se, viu March que se quedara hirta como que petrificada, ali parada absolutamente imóvel, dir-se-ia que presa ao chão por uma força invisível. Tinha o rosto mortalmente pálido, os olhos negros transformados em dois grandes abismos aquosos, trevas e dor bailando-lhe nas pupilas. O velhote tentava escalar a vedação, horrível de ver na incoerência e no esforço.
- Receio bem que tenha morrido - disse então o rapaz.
O velhote chorava de uma forma estranha, soluçada, emitindo curiosos ruídos enquanto se apressava por sobre a vedação.
- O quê! - gritou March, como que electrizada.
- Sim, receio bem que sim - repetiu o rapaz.
March vinha agora a caminho. Adiantando-se-lhe, o rapaz atingiu a vedação antes de ela lá conseguir chegar.
- Que estás a dizer, morta, como? - perguntou em voz aguda.
- Assim mesmo, morta. Receio bem que esteja morta - respondeu ele com enorme suavidade.
Ela tornou-se então ainda mais pálida, terrivelmente pálida e branca. E ficaram ali os dois a olhar um para o outro. Os seus olhos negros muito abertos fitavam-no num último lampejo de resistência. Depois, finalmente quebrada na agonia da dor, começou a choramingar, a chorar de uma forma contida, o corpo sacudido por estremeções, à semelhança de uma criança que não quer chorar mas que, destruída por dentro, solta aqueles primeiros soluços, sacudidos e fracos, que antecedem a irrupção do choro, do brotar das lágrimas, aqueles primeiros soluços secos, devastadores, terríveis.
Ele ganhara. Ela quedava-se ali de pé, abandonada e só, no mais total desamparo, o corpo sacudido por aqueles soluços secos, os lábios percorridos por um tremor rápido, espasmódico. E então, precedidas de uma pequena convulsão como acontece com as crianças, vieram as lágrimas, a agonia cega dos olhos turvos, rasos de água, do choro desgastante e infindo, dos olhos gastos até à última gota. Caiu depois por terra, ficando sentada na relva com as mãos sobre o peito e o rosto erguido, os olhos toldados por aquele choro convulsivo. Ele ficou de pé, olhando-a de cima, qual estátua pálida e muda, como que subitamente imobilizado para toda a eternidade. Sem se mover, quedou-se assim imóvel a olhar para ela. E, apesar da tortura que tal cena lhe causava, apesar da tortura do seu próprio coração, da tortura que lhe enovelava as entranhas, ele rejubilava. Ganhara, finalmente.
Longo tempo volvido, debruçou-se enfim sobre ela, pegando-lhe na mão.
- Não chores - disse-lhe então com doçura. - Não chores.
Ela olhou para ele por entre as lágrimas que lhe escorriam olhos abaixo, um ar abstracto no rosto desamparado e submisso. Assim, deixou-se estar de olhos pregados nos dele como se não o visse, como se subitamente cega, sem vista, apesar de continuar a olhá-lo de rosto erguido. Sim, não mais voltaria a deixá-lo. Ele tinha-a conquistado. E ele sabia disso, por isso rejubilava. Pois queria-a para sua mulher, a sua vida necessitava dela. E agora conquistara-a. Conquistara-a, conquistara finalmente aquilo de que a sua vida tanto necessitava.
Mas, se bem que a tivesse conquistado, ela ainda lhe não pertencia. Casaram, pois, pelo Natal conforme planeado, pelo que ele voltou a obter uma licença de dez dias. Foram então para a Cornualha, para a aldeia donde ele era natural, mesmo junto ao mar. Pois ele apercebera-se de que seria terrível para ela continuar na quinta por muito mais tempo.
Mas, ainda que ela agora lhe pertencesse, ainda que vivesse na sua sombra, como se não pudesse estar longe dele, a verdade é que ela não era feliz. Não que quisesse abandoná-lo, isso nunca, mas também não se sentia livre ao pé dele. Tudo à sua volta parecia espiá-la, pressioná-la. Ele tinha-a conquistado, tinha-a ao seu lado, fizera dela sua mulher. Quanto a ela, ela pertencia-lhe e sabia-o. Contudo, não era feliz. E também ele continuava a sentir-se frustrado. Apercebera-se de que, apesar de ter casado com ela e de, aparentemente, a ter possuído de todas as formas possíveis, apesar, inclusive, de ela querer que ele a possuísse, de ela o querer com todas as forças do seu ser, nada mais desejando para lá disso, a verdade é que não se sentia plenamente realizado, como se houvesse algures uma falha indetectada.
Sim, faltava, de facto, qualquer coisa. Pois ela, em vez da sua alma rejubilar com a nova vida que agora tinha, parecia antes definhar, exaurir-se, sangrar como se estivesse ferida. Assim, ficava longo tempo com a sua mão na dele, olhando o mar. Mas nos seus olhos negros e vadios havia como que uma espécie de ferida, o rosto ligeiramente mais magro, mais mirrado. E caso ele lhe falasse, ela virar--se-ia para ele com um sorriso diferente, débil e baço, o sorriso trémulo e ausente de uma mulher que, morta a sua antiga forma de amar, ainda não conseguira despertar para a nova forma de amor que agora lhe era dado experimentar. Pois ela continuava a sentir a necessidade de fazer qualquer coisa, de se esforçar em qualquer direcção. E ali não havia nada para fazer, não havia direcção em que pudesse esforçar-se. Além disso, não conseguia aceitar totalmente aquela espécie de apagamento, de submersão, que a nova forma de amar parecia exigir-lhe. Pois, estando apaixonada, sentia-se na necessidade de, de uma forma ou de outra, dar prova desse mesmo amor exteriorizando-o. Sentia-se dominada pela enervante necessidade, tão comum nos nossos dias, de dar prova do amor que se tem por alguém. Mas sabia que, na verdade, devia deixar de continuar a querer dar prova do seu amor. Pois ele não aceitaria esse amor, um amor que tinha de dar prova de si mesmo, o amor de que ela queria dar prova perante ele. Sempre que tal sucedia, ele ficava sombrio, um ar de desagrado no rosto carregado. Não, ele não a deixaria dar prova do seu amor para com ele. Não, ela tinha de ser passiva, aquiescente, de se deixar apagar, de se deixar submergir sob as águas calmas do amor. Ela tinha de ser como as algas que costumava ver ao passear de barco, balouçando suave e delicadamente, para sempre submersas sob as águas, com todas as suas delicadas fibrilas para fora, estendidas num doce ondular, vergadas e passivas sob a força da corrente, delicadas, sensíveis, numa entrega total, absoluta, abandonando-se, em toda a sua sensibilidade, em toda a sua receptividade, sob as águas escuras do mar envolvente, sem nunca, mas nunca, tentarem subir, emergir de sob as águas enquanto vivas. Não, nunca. Nunca emergem de sob as águas enquanto vivas, só depois de mortas, quando, já cadáveres, sobem então à tona, levadas pela maré. Mas, enquanto vivas, mantêm-se sempre submersas, sempre sob as ondas. E, contudo, apesar de jazerem sob as ondas, podem criar poderosas raízes, raízes mais fortes que o próprio ferro, raízes que podem ser tenazes e perigosas no seu suave ondular, batidas pelas correntes.
Jazendo sob as ondas, podem, inclusive, ser mais fortes e indestrutíveis do que os orgulhosos carvalhos que se erguem sobre a terra. Mas sempre, sempre submersas, sempre sob as águas. E ela, sendo mulher, teria de ser assim, teria de aprender a ser como essas algas.
Mas ela estava de tal modo acostumada a ser precisamente o oposto! Sempre tivera de chamar a si todas as responsabilidades, todas as preocupações, sempre tivera de ser ela a ocupar-se do amor e da vida. Dia após dia, tornara-se responsável pelo novo dia, pelo novo ano, pela saúde da sua querida Jill, pela sua felicidade, pelo seu bem-estar. Na verdade, e na medida da sua própria pequenez, acabara por se sentir responsável pelo bem--estar de todo o mundo. E o seu grande estimulante fora precisamente esse maravilhoso sentimento, esse sentimento de que, à escala da sua reduzida dimensão, ela era responsável pelo bem-estar do mundo inteiro.
E falhara. Falhara e sabia-o, sabia que, mesmo à sua pequena escala, acabara por falhar. Falhara em não conseguir satisfazer o seu próprio sentido das responsabilidades. Pois tudo lhe fora tão difícil! De início, tudo lhe parecera fácil, tudo lhe parecera belo. Mas, quanto mais se esforçava, mais difíceis as coisas se tornavam. Parecera-lhe tão fácil tornar feliz um ente querido! Mas não, fora terrível.
Toda a sua vida se esforçara, toda a sua vida tentara alcançar algo que parecia estar tão próximo, quase ao alcance da mão, gastando--se e consumindo-se até ao extremo limite das suas forças, para só então se dar conta de que isso estava sempre para além de si.
Sempre inatingível, sempre para além de si, irrealizável e vago, até que, por fim, acabara por se ver sem nada, totalmente despojada e vazia. A vida por que lutara, a felicidade que sempre almejara, o bem-estar por que tanto se esforçara, tudo resvalou no abismo, tornando--se vago e irreal, por mais longe que ela tentasse ir, as mãos estendidas, anelantes e vazias. Quisera ter um objectivo, uma finalidade por que lutar, mas não, não havia nada, só o vazio. E sempre aquela horrível busca, aquele constante esforço, aquele empenhamento em alcançar algo que talvez estivesse logo ali, logo ali ao virar da esquina. Até mesmo na sua tentativa de tornar Jill feliz, até mesmo aí falhara. Agora quase que se sentia aliviada por Jill ter morrido. Pois apercebera-se de que nunca a conseguiria fazer feliz. Jill nunca deixaria de se preocupar, sempre atormentada e aflita, cada vez mais mirrada, cada vez mais fraca. Em vez de diminuírem, as suas preocupações e dores nunca deixariam de aumentar. Sim, havia de ser sempre assim, havia de ser sempre assim até ao findar dos tempos. E, na verdade sentia--se aliviada, quase feliz por ela ter morrido.
Mas se, em vez disso, se tivesse casado com um homem, tudo teria sido igual. Sempre com a mulher a esforçar-se, a esforçar-se por tornar o homem feliz, a empenhar-se dentro dos seus limitados recursos pelo bem-estar do seu pequeno mundo. E nada obtendo senão o fracasso, um constante e enorme fracasso. Quanto muito, só pequenos e ilusórios sucessos, frivolidades tão aburdas como o dinheiro ou a ambição. Mas no aspecto em que verdadeiramente mais desejaria triunfar, no angustiado esforço de tentar tornar feliz e perfeito um qualquer ente amado, então aí o fracasso revelava-se total, quase catastrófico. Deseja-se sempre tornar feliz o ser amado, parecendo--nos que a sua felicidade está perfeitamente ao nosso alcance. Basta que façamos isto, aquilo e aqueloutro. E empenhamo-nos com toda a boa-fé, fazemos tudo e mais alguma coisa, mas, de cada vez, o falhanço parece crescer mais e mais, agigantar-se, medonho e terrível. Podemos, inclusive, lançar por terra o nosso amor-próprio, esforçarmo-nos e lutarmos até aos ossos sem que as coisas melhorem, antes pelo contrário, com tudo a piorar de dia para dia, indo de mal a pior, e bem assim a almejada felicidade. Oh, a felicidade! Que medonho engano, não é!
Pobre March! Com toda a sua boa vontade e sentido das responsabilidades, ela esforçara-se até mais não, esforçara-se e lutara até começar a ter a sensação de que tudo, de que toda a vida não passava de um horrível abismo de poeira e vazio. Quanto mais nos esforçamos por alcançar a flor fatal da felicidade, tremulando, tão amorosa e azul, na beira de um barranco quase ao alcance da mão, tanto mais assustados ficamos ao apercebermo-nos do horrível e pavoroso abismo do precipício que se abre aos nossos pés, no qual acabaremos inevitavelmente por cair, como num poço sem fundo, se tentarmos ir mais longe. E então colhe-se flor após flor, mas nunca a flor, nunca aquela por que tanto ansiamos. Pois essa flor oculta no seu cálice, qual poço sem fundo, um pavoroso abismo, um abismo de trevas e voragem, insondável, tenebroso.
Eis toda a história da busca da felicidade, quer seja a nossa ou a de outrem que se pretenda atingir. Tal busca acaba sempre, mas sempre, na horrível sensação de haver um poço sem fundo, um abismo de pó e nada no qual acabaremos inevitavelmente por cair se se tentar ir mais longe.
E as mulheres? Que outro objectivo pode uma mulher conceber senão a felicidade? Só a felicidade e nada mais que a felicidade, a felicidade para si própria e para todos aqueles que a rodeiam, a felicidade para o mundo inteiro, em suma. Só isso, nada mais. E assim, assume todas as responsabilidades inerentes e parte em busca do almejado objectivo. Quase que o pode ver ali, logo ali no fim do arco-íris. Ou então um pouquinho mais além, no azul da distância. De qualquer das formas, não muito longe, nunca muito longe.
Mas o fim do arco-íris é um abismo sem fundo, perdendo-se terra adentro, no qual se pode mergulhar sem nunca se chegar a lado algum, e o azul da distância é um poço de vazio que nos pode engolir, a nós e a todos os nossos esforços, no vácuo da sua voracidade sem por isso deixar de ser um abismo sem fim, um abismo de trevas e de nada. Sim, a nós e a todos os nossos esforços. Assim é a incessante perseguição da felicidade, sempre tão ilusoriamente ao nosso alcance!
Pobre March! Ela que partira com tão admirável determinação em busca da meta entrevista no azul da distância. E quanto mais longe ia, tanto mais terrível se tornava a noção da vacuidade envolvente. Por último, tal percepção tornara-se para si numa fonte de dolorosa agonia, numa sensação de insanidade, de loucura.
Estava feliz por tudo ter acabado. Estava feliz por se poder sentar na praia a olhar o poente por sobre o mar, sabendo que tudo acabara, que todo aquele formidável esforço chegara ao fim. Nunca mais voltaria a lutar pelo amor e pela felicidade. Não, nunca mais. Pois Jill estava agora segura, salva pela morte. Pobre Jill, pobre Jill! Como devia ser doce estar morta!
Mas, quanto a si, o seu destino não se cumpria na morte. Tinha de deixar o seu destino nas mãos daquele rapaz. Só que o rapaz pretendia muito mais do que isso, muito mais. Ele pretendia que ela se lhe entregasse sem reservas, que se deixasse afundar, submergir por ele. E ela, ela só desejava poder quedar-se imóvel, ficar ali sentada a olhar a distância como uma mulher que chegou ao fim do caminho, como uma mulher que, atingida a última etapa, pára por fim para descansar. Ela queria ver, saber, compreender. Ela queria estar sozinha, ficar só, com ele a seu lado, sim, mas só.
Oh, mas ele!... Ele não queria que ela observasse mais nada, que continuasse a ver ou a compreender fosse o que fosse. Ele queria velar-lhe o seu espírito de mulher como os Orientais usam velar o rosto das suas esposas. Ele queria que ela se lhe entregasse de corpo e alma, que adormecesse o seu espírito de independência. E queria libertá-la de todo o esforço de realização, de tudo aquilo que parecia ser a sua verdadeira raison d'etre. Ele queria torná-la submissa, rendida, queria que ela deixasse cegamente para trás toda a sua vívida consciência, abandonando-a de vez e para sempre. Queria extirpar-lhe essa consciência, queria que ela se tornasse tão-só sua mulher, sua mulher e nada mais. Nada mais.
Ela sentia-se tão cansada, tão cansada, quase como uma criança que se sente cheia de sono mas que luta contra isso como se dormir fosse sinónimo de morrer. Assim, os seus olhos pareciam dilatar-se mais e mais, tensos e rasgados, no esforço obstinado de se manter acordada. Ela tinha de se manter acordada. Tinha de saber. Tinha de ponderar, ajuizar e decidir. Tinha de manter bem firmes nas mãos as rédeas da sua própria vida. Tinha de ser uma mulher independente até ao fim. Mas estava tão cansada, tão cansada de tudo e de todos... E tinha tanto sono, tanto sono... Sentia-se tão quebrada ali ao pé do rapaz, ele transmitia-lhe uma tal calma, uma tal tranquilidade...
Contudo, os olhos dilatavam-se-lhe mais e mais, ali sentada num recanto daqueles altos penhascos bravios da Cornualha Ocidental, olhando o poente por sobre as águas do mar, olhando para oeste, lá onde ficavam o Canadá e a América. Ela tinha de saber, tinha de conseguir ver aquilo que estava para vir, aquilo que a esperava para lá do horizonte. Sentado a seu lado, o rapaz olhava as gaivotas que voavam mais abaixo, um ar sombrio no rosto carregado, os olhos tensos, descontentes. Ele queria vê-la adormecida e em paz a seu lado. Queria que ela se lhe abandonasse, queria ser o seu sono e a sua paz. E ali estava ela, quase morta pelo esforço insano da sua própria vigília. Contudo, ela nunca adormeceria. Não, nunca. Às vezes, ele pensava amargamente que teria sido melhor abandoná-la, que nunca devia ter matado Banford, que devia ter deixado que Banford e March se matassem uma à outra.
Mas isso era mera impaciência e ele sabia-o. Estava à espera, à espera de poder partir para oeste. E desejava ansiosamente partir, era quase um suplício ter de continuar à espera de poder deixar a Inglaterra, de poder ir para oeste, de poder levar March consigo. Oh, que ânsias de deixar aquela costa! Pois tinha esperança de que, quando fossem já por sobre as ondas, cruzando os mares com a Inglaterra finalmente para trás, aquela Inglaterra que ele tanto odiava, talvez porque, de certa forma, esta parecia tê-lo envenenado, ter-lhe espetado o seu ferrão, ela acabaria finalmente por adormecer, fechara finalmente os olhos, dando-se-lhe sem reservas.
E então ela seria finalmente sua e ele poderia, por fim, viver a sua própria vida, a vida por que tanto ansiava. Agora sentia-se irritado e aborrecido, sabendo que ainda não alcançara essa vida que desejava viver. E nunca a alcançaria enquanto ela não se rendesse, enquanto ela não adormecesse de vez, entregando-se-lhe, dissolvendo-se nele. Então sim, então ele já poderia viver a sua própria vida enquanto homem e enquanto macho, tal como ela já poderia viver a dela enquanto mulher e enquanto fêmea. E deixaria para sempre de haver esta medonha tensão, este esforço tenaz, obstinado, insano. Ela nunca mais voltaria a parecer um homem, a querer ser uma mulher independente com responsabilidades de homem. Não, nunca mais, pois até mesmo a responsabilidade pela sua própria alma ela teria de lhe confiar, de entregar nas suas mãos. Ele sabia que tinha de ser assim, por isso lhe fazia obstinadamente frente, esperando a sua rendição.
- Sentir-te-ás melhor uma vez que tenhamos partido, cruzando os mares em direcção ao Canadá, lá diante - disse-lhe ele quando se sentaram nas rochas por sobre o penhasco.
Ela olhou então para o horizonte, lá onde o céu e o mar se confundiam, como se este não fosse real. Depois, voltando-se para ele, olhou-o com aquela estranha expressão de esforço de uma criança em luta contra o sono.
- Achas que sim? - perguntou.
- Sim, acho que sim - respondeu ele calmamente.
As pálpebras descaíram-lhe então ligeiramente, num movimento lento, suave, quase imperceptível, sob o peso involuntário do sono. Mas, voltando a erguê-las, abriu os olhos e disse:
- Sim, talvez. Não sei dizer. Não faço ideia de como as coisas se irão passar depois de lá chegarmos.
- Ah, se ao menos pudéssemos partir depressa! - exclamou ele, numa voz dolorida.
As duas raparigas eram vulgarmente conhecidas pelos seus apelidos, Banford e March. Juntas, tinham tomado conta da quinta, pretendendo fazê-la funcionar sem a ajuda de ninguém: ou seja, dispunham-se a criar galinhas, sobreviver com a venda das aves, e, além disso, arranjar uma vaca e criar um ou dois novilhos. Infelizmente, as coisas não lhes correram bem.
Banford era pequena, magra, uma figurinha delicada com uns óculos. Contudo, era a principal investidora, já que March pouco ou nenhum dinheiro tinha. O pai de Banford, que era negociante em Islington, deu à filha uma ajuda inicial, primeiro a pensar na sua saúde e depois porque a amava, além de que não lhe parecia provável que ela algum dia se viesse a casar. March era mais robusta. Aprendera carpintaria e marcenaria em Islington, num curso nocturno que aí frequentara. Seria ela o homem da casa. Além do mais, o velho avô de Banford viveu com elas nos primeiros tempos. Outrora, tinha sido lavrador. Mas, infelizmente, o velho morreu passado um ano de estar com elas em Bailey Farm. E então as duas raparigas ficaram sozinhas.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/O_RAPOSO.jpg
Nenhuma delas era nova: isto é, andavam à volta dos trinta. Mas é claro que não eram velhas. E meteram mãos à obra com grande coragem. Tinham inúmeras galinhas, Leghorns pretas e brancas, Plymouths e Wyandots; também tinham alguns patos e duas vitelas nos campos de pastagem. Infelizmente, uma delas recusou-se em absoluto a permanecer nos cercados de Bailey Farm. Fosse como fosse que March fizesse as vedações, a vitela arranjava sempre forma de fugir, correndo, selvagem, pelos bosques ou invadindo as pastagens vizinhas, pelo que March e Banford andavam sempre por fora, a correr atrás dela com mais cansaço do que sucesso. Assim, desesperadas, acabaram por vender a vitela. E precisamente antes de o outro animal estar para ter o seu primeiro vitelo, o velho morreu, pelo que as raparigas, receosas do parto iminente, o venderam em pânico, limitando doravante as suas atenções às galinhas e aos patos.
A despeito de um certo pesar, não deixou de ser um alívio não terem de cuidar de mais gado. A vida não servia apenas para ser passada a trabalhar. Ambas as raparigas concordavam neste ponto. As aves já eram preocupação
8
que chegasse. March instalara a sua bancada de carpinteiro ao fundo do telheiro. E aí trabalhava, fazendo armações de galinheiro, portas e outros elementos. As aves tinham sido colocadas no edifício maior, o qual servira outrora de celeiro e estábulo. Tinham uma casa magnífica, pelo que deveriam estar bastante satisfeitas. Na verdade, pareciam bastante bem. Mas as raparigas andavam aborrecidas com a tendência das aves para apanharem estranhas doenças, com a exasperante exactidão do seu modo de vida e com a sua recusa, recusa constante, obstinada, em porem ovos.
March fazia a maior parte do trabalho não doméstico. Quando estava por fora, nas suas andanças, vestida com umas grevas e uns calções, com o seu casaco cintado e um boné largo, quase que parecia um qualquer rapaz, ar agradável, porte indolente, bamboleante, devido aos seus ombros direitos e aos movimentos fáceis, confiantes, com alguns laivos até de indiferença ou ironia. Contudo, o seu rosto não era um rosto de homem. Quando curvada, o cabelo, negro e encaracolado, esvoaçava em madeixas à sua volta; quando direita, voltando a olhar em frente, havia nos seus olhos negros, olhos grandes, arregalados, um brilho estranho, misto de espanto,
timidez e sarcasmo ao mesmo tempo. E também a boca se mostrava crispada, como que por dor ou ironia. Havia nela qualquer coisa de estranho, de inexplicável. Podia quedar-se apoiada numa só anca, observando as aves que perambulavam pela lama fina, repugnante, do pátio em declive, chamando depois a sua galinha favorita, uma galinha branca que respondia pelo nome, vindo a saltitar até junto dela. Mas havia uma espécie de lampejo satírico nos grandes olhos negros de March quando fitava aqueles seres de três dedos que andavam de cá para lá sob o seu olhar atento, notando-se na voz o mesmo tom de ameaça irónica sempre que falava com Patty, a favorita, a qual bicava a bota de March numa amigável demonstração de amizade.
Mas, apesar de tudo o que March fazia por elas, as aves não eram uma criação florescente em Bailey Farm. Quando, de acordo com os regras, começou a dar-lhes comida quente pela manhã, reparou que esta fazia com que ficassem pesadas e sonolentas durante horas. Ela quedava-se, expectante, vendo-as encostadas aos pilares do barracão durante o seu lento processo digestivo. E sabia muito bem que elas deviam andar atarefadas a esgravatar e a debicar por aqui e por ali, isto para haver esperanças de virem a tornar-se de alguma valia. Assim, decidiu passar a dar-lhes a comida quente só à noite, deixando que a digerissem durante o sono. E assim fez. Só que isso não surtiu qualquer efeito.
Por outro lado, os tempos de guerra em que viviam eram bastante desfavoráveis à criação de aves. A comida era escassa e má. E quando o Daylight Saving Bill1 entrou em vigor, as aves recusaram-se obstinadamente a ir dormir à hora habitual, por volta das nove no tempo de Verão. E, na verdade, isso já era bastante tarde, pois até elas estarem recolhidas e a dormir era impossível ter-se paz. Agora, andavam animadamente às voltas por ali, limitando-se de quando em vez a relancear os olhos para o celeiro, isto até por volta das dez horas ou mais. Mas tanto Banford como March discordavam de que a vida fosse só para trabalhar. Gostariam de ter tempo para ler ou para andar de bicicleta à tardinha, ou talvez mesmo March desejasse poder pintar cisnes curvilíneos em porcelanas de fundo verde ou fazer maravilhosos guarda-fogos através de processos do domínio da alta técnica da marcenaria. Pois ela era uma criatura cheia de estranhas fantasias e tendências insatisfeitas. Mas as estúpidas das aves impediam-na de tudo isso.
E havia um mal bem pior que tudo o resto. Bailey Farm era uma pequena fazenda com um velho celeiro de madeira e uma casa baixa, de telhado de empena, apenas separada da orla do bosque por um pequeno campo. Ora, desde a guerra que rondava por ali um raposo, raposo que se revelara um autêntico demónio. Apoderava-se das galinhas mesmo debaixo do nariz de March e Banford. Banford bem podia sobressaltar-se e olhar atentamente através dos seus grandes óculos, os olhos muito arregalados, ao levantar-se a seus pés um novo alvoroço de grasnidos, cacarejos e adejar de asas. Demasiado tarde! Outra galinha branca que se fora, outra Leghorn perdida. Era, de facto, desencorajador.
Elas fizeram o que puderam para remediar o caso. Quando chegou a época da caça às raposas, ambas passaram a postar-se de sentinela com as suas espingardas, escolhendo as horas preferidas pelo rapinante. Mas isso de nada lhes valeu. O raposo era demasiado rápido para elas. E assim se passou mais um ano, depois outro, enquanto elas continuavam a viver dos prejuízos, como Banford dizia. Um Verão, alugaram a sua casa da quinta e foram viver para um vagão ferroviário existente numa das extremidades do campo, ali deixado para servir como uma espécie de barracão de arrecadações. Isto divertiu-as, além de as ajudar a pôr as finanças em ordem. Não obstante, as coisas continuavam feias.
Ainda que continuassem a ser as melhores amigas do mundo, já que Banford, apesar de nervosa e de delicada, era uma alma quente e generosa, e March, apesar de parecer tão estranha e ausente, sempre tão concentrada em si mesma, se revelava dotada de uma curiosa magnanimidade, começaram, contudo, a descobrir, naquela longa solidão, uma certa tendência para se irritarem uma com a outra, para se cansarem uma da outra. March tinha quatro quintos do trabalho a seu cargo, e, apesar de não se importar, nunca conseguia ter descanso, pelo que nos seus olhos havia, por vezes, um curioso relampejar. Então, se Banford, sentindo os nervos mais esgotados do que nunca, tivesse um ataque de desespero, March falar-lhe-ia com rispidez. De algum modo, pareciam estar a perder terreno, a perder a esperança à medida que os meses iam passando. Ali sozinhas nos campos junto ao bosque, com toda aquela vasta região estendendo-se, profunda e sombria, até às colinas arredondadas do White Horse, perdidas na distância, pareciam ter de viver demasiado desligadas de si mesmas. Não havia nada que as animasse. E não havia esperança.
O raposo punha-as realmente exasperadas. Assim que deixavam as aves sair, ao alvorecer dos dias de Verão, tinham de ir buscar as armas e de ficar de guarda; e tinham de voltar ao mesmo assim que o entardecer se avizinhava, retomando os seus postos de sentinela. E ele era tão manhoso, tão dissimulado! Rastejava ao longo da erva alta, tão difícil de ver como uma serpente. Parecia mesmo evitar deliberadamente as raparigas. Uma ou duas vezes, March conseguira vislumbrar-lhe a ponta branca da cauda, por vezes mesmo a sua sombra avermelhada por entre a erva alta, e disparara sobre ele. Mas o raposo não ligara nenhuma ao sucedido.
Uma tarde, March estava de costas contra o sol, já a pôr-se no horizonte, com a arma debaixo do braço e o cabelo oculto sob o boné. Estava meio vigilante, meio absorta, perdida nos seus pensamentos. Aliás, tal estado era em si uma constante. Tinha os olhos abertos e vigilantes, mas lá bem no fundo da mente não tomava consciência daquilo que estava a ver. Deixava-se sempre cair neste estranho estado de alheamento, a boca ligeiramente crispada. Era um problema saber se estava realmente ali, de consciência desperta para o presente, ou muito longe daqueles locais.
As árvores na orla do bosque, de um verde--acastanhado, surgiam como uma mancha escura ressaltando à luz crua do dia; estava-se em fins de Agosto. Ao fundo, os tons acobreados dos troncos e ramos nus dos pinheiros refulgiam no ar. Mais perto, a erva selvagem, com os seus longos caules acastanhados e rebrilhantes, estava toda banhada de claridade. As galinhas andavam por ali, enquanto os patos estavam ainda a nadar na lagoa por debaixo dos pinheiros. March olhava para tudo aquilo, via tudo aquilo sem realmente se dar conta de nada. Ouviu Banford a falar às galinhas, lá ao longe, mas foi como se não ouvisse. Em que pensava? Só Deus o sabe. Como sempre, a sua consciência estava longe, ficara para trás.
Acabara de baixar os olhos quando, de repente, viu o raposo. E este estava a olhar para ela. Tinha o focinho descaído e os olhos levantados, fitando o espaço à sua frente. Então, os seus olhares encontraram-se. E ele reconheceu-a. Ela estava fascinada, como que enfeitiçada, sabendo que ele a reconhecia. Ele olhou-a bem dentro dos olhos e ela sentiu-se desfalecer, como se a alma lhe fugisse. Ele reconhecia-a, por isso não tinha medo.
Mas ela esforçou-se por reagir, recobrando confusamente o domínio de si mesma, enquanto o via afastar-se, aos saltos por sobre alguns ramos caídos, saltos lentos, vagarosos, descarados. Então, virando a cabeça, ele voltou a mirá--la mais uma vez e desapareceu depois numa corrida pausada, suave. Ela ainda lhe viu a cauda erguida, ondulando leve como uma pena, assim como as manchas brancas dos quadris, cintilando na distância. E assim se foi, suavemente, tão suave como o vento.
Ela levou então a arma ao ombro, e mais uma vez franziu os lábios num esgar, sabendo que era um disparate tentar disparar. Assim, começou a segui-lo devagar, avançando na direcção que ele tomara, lenta, obstinadamente. Tinha esperanças de o encontrar. No mais íntimo de si mesma, estava decidida a encontrá-lo. Não pensou naquilo que faria quando o voltasse a ver, mas estava decidida a encontrá-lo. E assim andou muito tempo pela orla do bosque, absorta, perdida, os olhos negros muito vivos, muito abertos, um ligeiro rubor nas faces quentes. Ia sem pensar. Numa estranha apatia, o cérebro vazio, vagueou de cá para lá.
Por fim, deu-se conta de que Banford estava a chamá-la. Esforçando-se por despertar, tentou dar atenção e, voltando-se, soltou uma espécie de grito à laia de resposta. E retomou então o caminho da fazenda, avançando a grandes passadas. O sol estava já a pôr-se, num brilho rubro, e as galinhas começaram a recolher aos poleiros. Ela olhou-as, um bando de criaturas pretas e brancas aglomerando-se junto ao celeiro. Como que enfeitiçada, olhou--as sem as ver. Mas a sua inteligência automatizada preveniu-a da altura em que devia fechar a porta.
Foi então para dentro, preparando-se para cear, pois Banford já pusera a comida na mesa. Banford tagarelava com grande à vontade. March fingia ouvi-la na sua maneira distante, varonil, dando lacónicas respostas de quando em vez. Mas esteve o tempo todo como debaixo de um sortilégio. E assim que a refeição acabou, voltou a levantar-se para sair, fazendo-o sem sequer dizer porquê. Levou outra vez a arma e foi em busca do raposo. Pois ele levantara os olhos para ela, ele reconhecera-a, e isso parecia ter-lhe penetrado o cérebro, dominando-a. Não pensava muito nele: estava possuída por ele. Ela reviu os seus olhos escuros, astutos, impassíveis, fitando-a lá bem no fundo, desvendando-a, olhos de quem sabia conhecê-la. E sentiu que ele possuía um domínio invisível sobre o seu espírito. Relembrou o modo como ele baixara a queixada ao olhar para ela, reviu-lhe o focinho, o castanho dourado, o branco acinzentado. E voltou a vê-lo virar a cabeça, o olhar furtivo que lhe deitou, meio convidativo, meio desdenhoso, algo atrevido também. E por isso foi, os grandes olhos espantados e cintilantes, a espingarda debaixo do braço, andando de cá para lá na orla do bosque. Entretanto, caiu a noite, pelo que uma lua enorme, redonda, começou a erguer-se por detrás dos pinheiros. Então, Banford voltou a chamá-la.
Assim, ela voltou para casa. Estava silenciosa, atarefada. Examinou e limpou a arma, perdida em abstractos devaneios, a mente divagando à luz da lâmpada. E depois voltou a sair, ao luar, para ver se estava tudo em ordem. Mas quando viu as cristas negras dos pinheiros recortadas no céu sanguíneo, o coração acelerou-se-lhe, de novo batendo pelo raposo, sempre pelo raposo. E teve vontade de retomar a sua busca, de espingarda na mão.
Passaram alguns dias antes de ela mencionar o caso a Banford. Então, uma tarde, disse de súbito:
- Na noite de sábado passado, o raposo esteve mesmo ao pé de mim.
- Onde? - disse Banford, abrindo muito os olhos por detrás dos óculos.
- Quando estava ao pé da lagoa.
- Deste-lhe um tiro? - gritou Banford.
- Não, não dei.
- Porque não?
- Bem, suponho que fiquei demasiado surpreendida, só isso.
Era esta a velha maneira de falar que March sempre tivera, lenta e lacónica. Banford observou a amiga por alguns instantes.
- Mas viste-lo? - exclamou ela.
- Claro que sim! Ele estava a olhar para mim, impávido e sereno, como se não fosse nada com ele.
- Não me digas! - gritou Banford. - Que descaramento! Não têm medo nenhum de nós, Nellie, é o que te digo.
- Lá isso não - disse March.
- Só é pena que não lhe tenhas dado um tiro - acrescentou Banford.
- Sim, é pena! Desde então que tenho andado à procura dele. Mas não creio que volte a aproximar-se tanto da próxima vez.
- Sim, também acho - concordou Banford. E esforçou-se por esquecer o caso, apesar de se sentir mais indignada do que nunca com o atrevimento daqueles ratoneiros. March também não tinha consciência de andar a pensar no raposo. Mas sempre que caía em meditação, sempre que ficava meio absorta, meio consciente daquilo que tinha lugar sob os seus olhos, então era o raposo que, de algum modo, lhe dominava o inconsciente, apossando-se da sua mente errante, disponível. E foi assim durante semanas, durante meses. Não interessava que estivesse a trepar às macieiras, a apanhar as últimas ameixas, a cavar o fosso da lagoa dos patos, a limpar o celeiro, pois quando se endireitava, quando afastava da testa as madeixas de cabelo, voltando a franzir a boca daquela forma estranha, crispada, que lhe era habitual, dando-lhe um ar demasiado envelhecido para a idade, era mais do que certo voltar a sentir o espírito dominado pelo velho apelo do raposo, tão vivo e intenso como quando ele a olhara. Nessas ocasiões, era quase como se conseguisse sentir-lhe o cheiro. E isso acontecia-lhe sempre nos momentos mais inesperados, quer à noite quando estava para se ir deitar, quer quando deitava água no bule para fazer chá: lá estava o raposo, dominando-a com o seu fascínio, enfeitiçando-a, subjugando-a.
E assim se passaram alguns meses. Inconscientemente, ela continuava a ir à procura dele sempre que se encaminhava para os lados do bosque. Ele tornara-se-lhe num estigma, numa impressão obsessiva, num estado de espírito permanente, não contínuo mas recorrente, em constante afluxo. Não sabia aquilo que sentia ou pensava: pura e simplesmente, um tal estado invadia-a, dominava-a, tal e qual como quando ele a olhara.
Os meses foram passando, chegaram as noites escuras, pesadas, chegou Novembro, sombrio, ameaçador, época em que March andava de botas altas, os pés mergulhados na lama até ao tornozelo, tempo em que às quatro horas já era de noite, em que o dia nunca chegava propriamente a nascer. Ambas as raparigas temiam aquele tempo. Temiam a escuridão quase contínua que as rodeava, sozinhas na sua pequena quinta junto ao bosque, triste e desolada. Banford tinha medo, um medo físico, concreto. Tinha medo dos vagabundos, receava que alguém pudesse aparecer por ali a rondar. March não tinha tanto medo, era mais uma sensação de desconforto, de turbação. Sentia por todo o corpo como que um constrangimento, uma melancolia, e isso, sim, também a afectava fisicamente.
Usualmente, as duas raparigas tomavam chá na sala de estar. Ao anoitecer, March acendia a lareira, deitando-lhe a madeira que cortara e serrara durante o dia. Tinham então pela frente a longa noite, sombria, húmida, escura lá fora, solitária e um tanto opressiva portas adentro, algo lúgubre mesmo. March preferia não falar, mas Banford não podia estar calada. Bastava-lhe ouvir o vento silvando lá fora por sobre os pinheiros ou o simples gotejar da chuva para ficar com os nervos arrasados.
Uma noite, depois de tomarem chá e lavarem as chávenas na cozinha, retornaram à sala. March pôs os seus sapatos de trazer por casa e pegou no trabalho de croché, coisa que fazia de vez em quando com grande lentidão. Depois, quedou-se silenciosa. Banford ficou diante da lareira, olhando o fogo rubro, pois este, sendo de lenha, exigia uma constante atenção. Estava com receio de começar a ler demasiado cedo, já que os seus olhos não suportavam grandes esforços. Assim, sentou-se a olhar o fogo, ouvindo os sons perdidos na distância, o mugido do gado, o monótono soprar do vento, pesado e húmido, o estrépito do comboio da noite na pequena linha férrea não muito longe dali. Começava a estar como que fascinada pelo fulgor sanguíneo do fogo que ardia.
Subitamente, ambas as raparigas se sobressaltaram, erguendo os olhos. Tinham ouvido passos, passos distintos, nítidos, sem margem para dúvidas. Banford encolheu-se toda com medo. March levantou-se e pôs-se à escuta. Depois, dirigiu-se rapidamente para a porta que dava para a cozinha. Precisamente nessa altura, ouviram os passos aproximarem-se da porta das traseiras. Esperaram uns instantes. Então, a porta abriu-se lentamente. Banford deu um grande grito. Depois, uma voz de homem disse em tom suave:
- Viva!
March recuou e pegou na espingarda encostada a um canto.
- O que é que quer? - gritou em voz aguda. E o homem voltou a falar na sua voz simultaneamente vibrante e suave:
- Ora viva! Há algum problema?
- Olhe que eu disparo! - gritou March. - O que é que quer?
- Mas porquê, qual é o problema? - respondeu ele, no mesmo tom brando, interrogativo, algo assustado agora. E um jovem soldado, com a pesada mochila às costas, penetrou na luz baça da sala. E disse então: - Ora esta! Mas então quem é que vive aqui?
- Vivemos nós - disse March. - O que é
que quer?
- Oh! - exclamou o jovem soldado, uma leve nota de dúvida na sua voz arrastada, melodiosa. - Então William Grenfel já não mora aqui?
- Não, e você bem sabe que não.
- Acha que sei? Bem vê que não. Mas ele viveu aqui, pois era meu avô, e eu mesmo vivia aqui há cinco anos atrás. Afinal, que foi feito dele?
O homem - ou melhor, o jovem, pois não devia ter mais de vinte anos - adiantara-se agora um pouco mais estando já do lado de dentro da porta. March, já sob a influência daquela voz, estranhamente branda, quedou-se, fascinada, a olhar a olhar para ele. Tinha um rosto redondo, avermelhado, com cabelos louros um tanto compridos colados à testa pelo suor. Os olhos eram azuis, muito vivos. Nas faces, sobre a pele fresca e avermelhada, florescia uma fina barba loura, quase como que uma penugem, mais espessa, dando-lhe um ar vagamente resplandecente. Com a pesada mochila às costas, estava algo inclinado, a cabeça atirada para a frente. Tinha o bivaque pendente de uma das mãos. Com olhos vivos e penetrantes, fitava ora uma ora outra das raparigas, e especialmente March, que permanecia de pé, muito pálida, os grandes olhos arregalados, de casaco cintado e grevas, o cabelo atado atrás num grande bando encrespado por sobre a nuca. Continuava de arma na mão. Atrás dela, Banford, agarrada ao braço do sofá, estava toda encolhida, a cabeça meio voltada como quem se preparava para fugir.
- Pensei que o meu avô ainda avô ainda aqui vivesse. Será que já morreu?
- Estamos aqui há três anos - disse Banford, a qual parecia estar agora a recobrar a presença de espírito, talvez por se aperceber de algo de pueril naquela face redonda, de cabelos compridos e suados.
- Três anos! Não me digam! E não sabem quem vivia aqui antes de vocês?
- Só sei que era um velho que vivia sozinho.
- Ah! Então era ele! E o que é que lhe aconteceu?
- Morreu. Só sei que morreu.
- Ah! Então é isso, morreu!
O jovem fitava-as sem mudar de cor ou expressão. E se havia no seu rosto qualquer expressão, para além de um ar ligeiramente confuso, interrogativo, isso devia-se a uma forte curiosidade relativamente às duas raparigas. Mas a
curiosidade daquela jovem cabeça arredondada, apesar de viva e penetrante, era uma curiosidade impessoal, objectiva, fria.
Porém, para March ele era o raposo. Se tal se devia ao facto de ter a cabeça deitada para a frente, ao brilho da fina barba prateada em torno dos malares róseos ou aos olhos vivos e brilhantes, não seria possível dizê-lo; contudo, para ela o rapaz era o raposo e era-lhe impossível vê-lo de outro modo.
- Como é possível que não soubesse se o seu avô estava vivo ou morto? - perguntou Ban-ford, recuperando a sua habitual sagacidade.
- Ah, pois, aí é que está - respondeu o jovem, com um leve suspiro. - Sabe, é que eu alistei-me no Canadá e já não tinha notícias dele há três ou quatro anos... Fugi para lá a fim de me alistar.
- E acabou agora de chegar de França?
- Bem... Não propriamente, pois, na verdade, vim de Salónica.
Houve uma pausa, ninguém sabendo ao certo o que dizer.
- Então agora não tem para onde ir? - disse Banford, algo desajeitadamente.
- Oh, conheço algumas pessoas na aldeia. E, de qualquer forma, sempre posso ir para a Estalagem do Cisne.
- Veio de comboio, suponho. Não quer descansar um bocado?
- Bom, confesso que não me importava nada.
Ao desfazer-se da mochila, emitiu um estranho suspiro, quase que um queixume. Banford olhou para March.
- Ponha aí a arma - disse. - Nós vamos fazer um pouco de chá.
- Ah, sim! - concordou o jovem. - Já vimos demasiadas espingardas.
Sentou-se então no sofá com um certo ar de cansaço, o corpo todo inclinado para a frente.
March, recuperando a presença de espírito, dirigiu-se para a cozinha. Aí chegada, ouviu o jovem monologando na sua voz suave:
- Ora quem diria que havia de voltar e vir encontrar isto assim!
Não parecia nada triste, absolutamente nada; tão-só um tanto ou quanto surpreso e interessado ao mesmo tempo.
- E como tudo isto está diferente, hem? - continuou, relanceando o olhar pela sala.
- Acha que está diferente, é? - disse Banford.
- Se está!... Isso salta à vista...
Os seus olhos eram invulgarmente claros e brilhantes, ainda que tal brilho mais não fosse do que mero reflexo de uma saúde de ferro.
Na cozinha, March andava de cá para lá, preparando outra refeição. Eram cerca de sete horas da tarde. Durante todo o tempo em que esteve ocupada, nunca deixou de prestar atenção ao jovem sentado na saleta, não tanto a ouvir aquilo que este dizia como a sentir o fluir suave e brando da sua voz. Comprimiu os lábios, apertando-os mais e mais, a boca tão cerrada como se estivesse cosida, numa tentativa para manter o domínio de si mesma. Contudo, sem que o pudesse evitar, os seus grandes olhos dilatavam-se, brilhantes, pois perdera já o seu autocontrole. Rápida e descuidadamente, preparou a refeição, cortando grandes fatias de pão e barrando-as com margarina, pois manteiga era coisa que não tinham. Deu voltas à cabeça a pensar no que mais poderia pôr no tabuleiro, já que só tinha pão, margarina e geleia na despensa quase vazia. Incapaz de descobrir fosse o que fosse, dirigiu-se para a sala com o tabuleiro.
Ela não queria chamar as atenções. E, acima de tudo, não queria que ele a olhasse. Mas quando entrou, atarefada a pôr a mesa por detrás dele, ele endireitou-se, espreguiçando--se, e voltou-se para olhar por cima do ombro. Ela empalideceu, sentiu-se quase desfalecer.
O jovem observou-a, debruçada sobre a mesa, olhou-lhe as pernas finas e bem feitas, o casaco cintado flutuando-lhe sobre as coxas, o bandó de cabelos negros, e mais uma vez a sua curiosidade viva e sempre alerta se deixou prender por ela.
A lâmpada estava velada por um quebra-luz verde-escuro, de modo que a luz incidia de cima para baixo, deixando a parte superior da sala envolta na penumbra. O rosto dele movia-se, brilhante, à luz do candeeiro, enquanto March surgia como uma figura difusa, perdida na distância.
Ela virou-se, mas manteve a cabeça de lado, os olhos piscando, rápidos, sob as pestanas negras. Descerrando os lábios, disse então a Banford:
- Não queres servir o chá? Depois, regressou à cozinha.
- Não quer tomar o chá onde está? - disse Banford para o jovem. - A menos que prefira vir para a mesa - acrescentou.
- Bom, sinto-me aqui muito bem, confortavelmente instalado. Se não se importa, prefiro tomá-lo aqui mesmo - respondeu ele.
- Só temos pão e geleia - disse então ela. E pôs-lhe o prato à frente, pousando-o num escabelo. Sentia-se bastante feliz por ter alguém a quem servir, pois adorava companhia. E agora já não tinha medo dele, encarava-o quase como se fosse o seu irmão mais novo, tão criança ele lhe parecia.
- Nellie! - gritou. - Tens aqui a tua chávena.
March surgiu então à entrada da porta, aproximou-se, pegou na chávena e foi-se sentar a um canto, tão longe da luz quanto possível. Sendo muito susceptível quanto aos joelhos, e dado não ter qualquer saia com que os cobrisse, sofria pelo facto de ter de estar assim sentada com eles tão ousadamente em evidência. Assim, encostou-se toda para trás, encolhendo-se o mais que pôde, na tentativa de não ser vista. Mas o jovem, preguiçosamente estirado no sofá, fitava-a com uma tal insistência, os olhos firmes e penetrantes, que ela quase desejou poder desaparecer. No entanto, manteve a chávena direita enquanto bebia o chá, de lábios apertados e cabeça virada. O seu desejo de passar despercebida era tão forte que quase intrigou o rapaz, pois ele sentia que não conseguia vê-la com nitidez. Ela mais parecia uma sombra entre as sombras que a rodeavam. E os seus olhos acabavam sempre por voltar a ela, inquiridores, persistentes, atentos, com uma fixidez quase inconsciente.
Enquanto isso, na sua voz calma e suave, ele conversava com Banford, para quem a tagarelice era tudo no mundo, além de ser dotada de uma aguda curiosidade, qual pássaro saltitante catando aqui e ali. Por outro lado, ele comeu desalmadamente, rápido e voraz, pelo que March teve de ir cortar mais fatias de pão com margarina, por cujo preparo grosseiro Banford se desculpou.
- Oh, tens cada uma! - disse March, saindo repentinamente do seu mutismo. - Se não temos manteiga para lhes pôr, não vale a pena preocuparmo-nos com a elegância das fatias.
O jovem voltou a olhá-la e, subitamente, riu-se, com um riso rápido, sacudido, mostrando assim os dentes sob o nariz franzido.
- Lá isso é verdade - respondeu ele, na sua voz suave, insinuante.
Parece que era da Cornualha, nado e criado aí. Ao fazer doze anos, viera para Bailey Farm com o avô, com o qual nunca se dera muito bem. Assim, tivera de fugir para o Canadá, tendo passado a trabalhar longe, no Oeste. Agora voltara e ali estava, eis toda a sua história.
Mostrava-se muito curioso quanto às raparigas, pretendendo saber exactamente em que é que se ocupavam. As questões que lhes punha eram típicas de um jovem fazendeiro: argutas, práticas e um tanto trocistas. Parecia ter ficado muito divertido com a atitude delas face aos prejuízos, pois achava-as particularmente cómicas quanto ao caso das vitelas e das aves.
- Oh, bem vê - interrompeu March -, nós não concordamos em viver só para trabalhar.
- Ah, não? - respondeu. De novo o rosto se lhe iluminou num sorriso pronto e jovial. E o seu olhar, firme e insistente, voltou a cravar-se na mulher sentada ao canto, na obscuridade.
- Mas o que pensam fazer quando o vosso capital chegar ao fim? - indagou.
- Oh, isso não sei - retorquiu March, laconicamente. - Oferecermo-nos para trabalhar nos campos, suponho eu.
- Sim, mas não deve haver assim grande procura de mulheres para trabalhar no campo, agora que a guerra acabou - volveu o jovem.
- Oh, isso depois se vê. Ainda nos poderemos aguentar durante mais algum tempo - retorquiu March, num tom de indiferença algo plangente, meio triste, meio irónico.
- Faz aqui falta um homem - disse o jovem suavemente. Banford desatou a rir, soltando uma gargalhada.
- Veja lá o que diz - interrompeu ela. - Nós consideramo-nos muito capazes.
- Oh! - disse March, na sua voz arrastada e dolente. - Receio bem que não seja um simples caso de se ser ou não capaz. Quem se quiser dedicar à lavoura, terá de trabalhar de manhã à noite, quase que terá mesmo de se animalizar.
- Sim, estou a ver - respondeu o jovem. - E vocês não querem meter-se nisso de pés e mãos.
- Não, não queremos - disse March - e temos consciência disso.
- Queremos ficar com algum tempo para nós mesmas - acrescentou Banford.
O jovem recostou-se no sofá, tentando conter o riso, um riso silencioso mas que o dominava completamente. O calmo desdém das raparigas deixava-o profundamente divertido.
- Está bem - volveu ele - mas então porque começaram com isto?
- Oh! - retorquiu March. - Acontece que antes tínhamos uma melhor opinião da natureza das galinhas do que a que temos agora.
- Creio bem que de toda a Natureza - disse Banford. - E digo-lhes mais: nem me falem da Natureza!
Mais uma vez o rosto do jovem se contraiu num riso delicado.
- Vocês não têm lá grande opinião de galinhas e de gado, pois não? - disse então ele.
- Oh, não! - disse March. - E até bastante pequena.
O jovem, não conseguindo conter-se, soltou uma sonora gargalhada.
- Nem de galinhas, nem de vitelos, nem de cabras, nem do tempo - rematou Banford.
O jovem irrompeu então num riso rápido, convulsivo, explodindo em divertidas gargalhadas. As raparigas começaram também a rir. March, virando o rosto, franziu a boca num esgar, um riso contido sob os lábios cerrados.
- Bom - disse Banford -> mas não nos ralamos muito com isso, pois não, Nellie?
- Não - disse March -> não nos ralamos. O jovem sentia-se ah muito bem. Comera e bebera bastante, saciara-se até estar cheio. Banford começou a interrogá-lo. Chamava-se Henry Grenfel. Não, Harry não, chamavam--lhe sempre Henry. E continuou a responder de um modo simples, cortês, num tom simultaneamente solene e encantador. March, que não participava no diálogo, olhava-o lenta e demoradamente do seu refúgio do canto, con-templando-o ali sentado no sofá, de mãos espalmadas nos joelhos, o rosto batido pela luz do candeeiro enquanto, virado para Banford, lhe dava toda a sua atenção. Por fim, quase que se sentia calma, em paz. Ela identificara-o com o raposo e ali estava ele, presença física, viva, integral. Já não precisava de andar atrás dele, de ir à sua procura. Perdida na sombra do seu canto, sentiu-se tomada de uma paz quente, relaxante, quase como se o sono a invadisse, aceitando aquele encantamento que a habitava. Mas desejava continuar oculta, despercebida. Só se sentia totalmente em paz enquanto ele continuasse a ignorá-la, conversando com Banford. Oculta na sombra do seu canto, já não tinha razão para se sentir dividida, para tentar manter vivos dois planos de consciência. Podia finalmente mergulhar por inteiro no odor do raposo.
Pois o jovem, sentado junto à lareira dentro do seu uniforme, enchia a sala de um odor simultaneamente vago mas distinto, um tanto indefinível mas algo semelhante ao de um animal selvagem. March não mais tentou escapar-lhe. Mantinha-se calma e submissa no seu canto, tão quieta e passiva como um qualquer animal na sua toca.
Finalmente, a conversa começou a esmorecer. O jovem, tirando as mãos dos joelhos, endireitou-se um pouco e olhou em volta. E de novo tomou consciência daquela mulher silenciosa, quase invisível no seu canto.
- Bom - disse, algo contrariado -> suponho que é melhor ir andando ou quando chegar ao Cisne já estão todos deitados.
- De qualquer modo, receio que já estejam todos na cama - disse Banford. - Parece que apanharam essa gripe que anda para aí.
- Ah, sim?! - exclamou ele. E ficou alguns instantes pensativo. - Bem - continuou -, em algum lado hei-de arranjar onde ficar.
- Eu ia dizer para cá ficar, só que... - começou Banford.
Virando-se então, ele olhou-a, a cabeça atirada para a frente.
- Como? - perguntou.
- Quero eu dizer, as convenções, sei lá... - explicou ela. Parecia um bocado embaraçada.
- Não seria muito próprio, não é assim? - disse ele, num tom surpreso mas gentil.
- Não pela nossa parte, é claro - respondeu Banford.
- E não pela minha - retorquiu ele, com ingénua gravidade. - Ao fim e ao cabo, de certa forma esta continua a ser a minha casa.
Banford sorriu ao ouvi-lo.
- Trata-se antes do que a aldeia poderá dizer - observou.
Houve uma ligeira pausa.
- O que é que achas, Nellie? - perguntou Banford.
- Eu não me importo - respondeu March no seu tom habitual, nítido e claro. - E, de qualquer forma, a aldeia não me interessa para nada.
- Ah, não? - disse o jovem, em voz rápida mas suave. - Mas porque o fariam? Quer dizer, de que poderiam eles falar?
- Oh, isso! - volveu March, no seu tom lacónico, plangente. - Facilmente descobririam qualquer coisa. Mas não interessa aquilo que eles possam dizer. Nós sabemos cuidar de nós próprias.
- Sem qualquer dúvida - respondeu o jovem.
- Bom, então se quiser fique por aqui - disse Banford. - O quarto dos hóspedes está sempre pronto.
O rosto dele iluminou-se-lhe de prazer.
- Se têm a certeza de que não será um grande incómodo - observou ele naquele tom de suave cortesia que o caracterizava.
- Oh, não é incómodo nenhum - responderam as raparigas.
Sorrindo, satisfeito, ele olhava, ora para uma ora para outra.
- E mesmo muito agradável não ter de voltar a sair, não é verdade? - acrescentou, agradecido.
- Sim, suponho que sim - disse Banford.
March saiu para ir tratar do quarto. Banford estava tão satisfeita e solícita como se fosse o seu irmão mais novo quem tivesse voltado de França. Aquilo era tão gratificante para ela como se tivesse de cuidar dele, de lhe preparar o banho, de lhe tratar das coisas e tudo o resto. A sua generosidade e afectividade naturais tinham agora em que se aplicar. E o jovem estava deliciado com toda aquela fraternal atenção. Mas sentiu-se algo perturbado ao lembrar-se de que March, apesar de silenciosa, também estava a trabalhar para ele. Ela era tão curiosa, tão silenciosa e apagada. Quase que tinha a impressão de que ainda não a vira bem. E sentiu que até poderia não a reconhecer se se cruzassem na estrada.
Naquela noite, March teve um sonho perturbador, particularmente vivo e agitado. Sonhou que ouvia cantar lá fora, um cântico que não conseguia entender, um cântico que errava à volta da casa, vagueando pelos campos, perdendo-se na escuridão. Sentiu-se tão emocionada que teve vontade de chorar. Decidiu-se então a sair e, de repente, soube que era ele, soube que era o raposo quem assim cantava. Confundia-se com o trigo, de tão amarelo e brilhante. Ela então aproximou-se dele, mas o raposo fugiu, deixando de cantar. Contudo, parecia-lhe tão perto que quis tocá-lo. Estendeu a mão, mas, de súbito, ele arremeteu, mordendo-lhe o pulso, e no mesmo instante em que ela recuou, o raposo, virando-se para fugir, já a preparar o salto, bateu-lhe com a cauda na cara, dando a sensação de que esta estava em fogo, tão grande foi a dor que sentiu, como se a boca tivesse ficado ferida, queimada. E acordou com aquela horrível sensação de dor, quedando-se, trémula, como se se tivesse realmente queimado.
Contudo, na manhã seguinte, já só se lembrava dele como de uma vaga recordação. Levantando-se, pôs-se logo a tratar da casa para ir depois cuidar das aves. Banford fora até à aldeia de bicicleta na esperança de conseguir comprar alguma comida, pois era naturalmente hospitaleira. Mas, infelizmente, naquele ano de 1918 não havia muita comida à venda. Ainda em mangas de camisa, o jovem, saindo do quarto, foi até ao rés-do--chão. Era novo e sadio, mas como andava com a cabeça atirada para a frente, fazendo com que os ombros parecessem levantados e algo recurvos, dava a sensação de sofrer de uma ligeira curvatura da espinha. Mas devia ser apenas uma questão de hábito, um jeito que apanhara, pois era jovem e vigoroso. Enquanto as mulheres estavam a preparar o pequeno-almoço, lavou-se e saiu.
Andou por todo o lado, olhando e examinando tudo com a maior atenção. Comparou o actual estado da quinta com aquilo que ela antes fora, pelo menos até onde conseguia lembrar-se, fazendo depois um cálculo mental do efeito das mudanças. Foi ver as galinhas e os patos, avaliando das condições em que estavam; observou o voo dos pombos-bravos, extremamente numerosos, que passavam no céu por cima de si; viu a macieira e as maçãs que, por demasiados altas, March não conseguira apanhar; reparou numa bomba de sucção que elas tinham tomado de empréstimo, presumivelmente para esvaziarem a grande cisterna de água doce situada junto ao lado norte da casa.
- Tudo isto está velho e gasto, mas não deixa de ser curioso - disse às raparigas ao sentar-se para tomar o pequeno-almoço.
Sempre que reflectia em qualquer coisa, havia nos seus olhos um brilho simultaneamente inteligente e pueril. Não falou muito, mas comeu até fartar. March manteve o rosto de lado, os olhos desviados o tempo todo. E também ela, naquele princípio de manhã, não tinha clara consciência da presença dele, ainda que algo no brilho do caqui que ele envergava lhe lembrasse o cintilante esplendor do raposo do seu sonho.
Durante o dia, as raparigas andaram por aqui e por ali, entregues às suas tarefas. Quanto a ele, de manhã dedicou-se à caça, tendo morto a tiro um coelho e um pato--bravo que voava alto, para os lados do bosque. Isto representava um apreciável contributo, dado a despensa estar mais que vazia. Deste modo, as raparigas acharam que já pagara a despesa feita. Contudo, ele não disse nada quanto a ir-se embora. De tarde, foi até à aldeia, tendo voltado à hora do chá. Tinha no rosto arredondado o mesmo olhar vivo, penetrante, alerta. Pendurou o chapéu no cabide num pequeno movimento bamboleante. A avaliar pelo seu ar pensativo, tinha qualquer coisa em mente.
- Bom - disse às raparigas enquanto se sentava à mesa. - O que é que eu vou fazer?
- O que quer dizer com isso? - perguntou Banford.
- Onde é que eu vou arranjar na aldeia um lugar para ficar? - esclareceu ele.
- Eu cá não sei - disse Banford. - Onde é que pensa ficar?
- Bem... - respondeu ele, hesitante. - No Cisne estão todos com a tal gripe e no Grade e Arado têm lá os soldados que andam na recolha de feno para o exército. Além disso, na aldeia, já há dez homens e um cabo aboletados em casas particulares, ao que me disseram. Não sei lá muito bem onde é que irei achar uma cama.
E deixou o assunto à consideração das raparigas. Não parecia muito preocupado, estava até bastante calmo. March, sentada com os cotovelos pousados na mesa e o queixo entre as mãos, olhava-o meio absorta, quase sem se dar conta. De súbito, ele ergueu os seus olhos azul-escuros, fixando-os abstractamente nos de March. Ambos estremeceram, surpreendidos. E também ele se retraiu, esboçando um ligeiro recuo. March sentiu o mesmo clarão furtivo, sarcástico, saltar daqueles olhos brilhantes quando ele desviou o rosto, o mesmo fulgor astuto, conhecedor, dos olhos escuros do raposo. E, tal como acontecera com o raposo, sentiu que aquele olhar lhe trespassava a alma, penetrando-a de lado a lado. Como presa de viva dor ou em meio a um sono agitado, a boca crispou-se-lhe, os lábios contraíram-se.
- Bom, não sei... - dizia Banford. Parecia algo relutante, como se receasse que estivessem a querer enganá-la, a querer impor-lhe qualquer coisa. Olhou então para March. Mas, dada a sua fraca visão, sempre algo turvada, mais não viu no rosto da amiga do que aquele seu ar meio abstracto de sempre.
- Porque é que não dizes nada, Nellie? - perguntou.
Mas March mantinha-se silenciosa, olhos arregalados e errantes, enquanto o jovem, como que fascinado, a observava de olhos fixos.
- Vamos, diz qualquer coisa - insistiu Banford. E March virou então ligeiramente a cabeça, como que a tomar enfim consciência das coisas ou, pelo menos, a tentar fazê-lo.
- Mas que esperas tu que eu diga? - perguntou em tom automático.
- Dá a tua opinião - disse Banford.
- Tanto se me dá, é-me indiferente - respondeu March.
E novo silêncio se instalou. Qual língua de fogo, uma luz pareceu brilhar nos olhos do rapaz, penetrante como uma agulha.
- Pois a mim também - disse então Banford. - Se quiser, pode ficar por cá.
Acto contínuo, quase que involuntariamente, um sorriso perpassou pelo rosto do rapaz, uma súbita chama de astúcia a iluminá-lo. Baixando rapidamente a cabeça, escondeu-a então nas mãos e assim ficou, cabeça baixa, rosto oculto.
- Como disse, se quiser pode cá ficar. Faça como entender, Henry - rematou Banford.
Mas ele continuava sem responder, insistindo em permanecer de cabeça baixa. Por fim, ao erguer o rosto, havia neste um estranho brilho, como se naquele momento todo ele exultasse, enquanto observava March com olhos estranhamente claros, transparentes. Esta desviou o rosto, um ricto de dor na boca crispada, quase como se ferida, a consciência toldada, presa de confusa turvação.
Banford começou a sentir-se um pouco intrigada. Viu os olhos do jovem fitos em March, olhos firmes, decididos, quase que transparentes, o rosto iluminado por um sorriso imperceptível, mais adivinhado do que real. Ela não percebia como é que ele podia estar a sorrir, pois as suas feições afectavam uma imobilidade de estátua. Tal parecia provir do brilho, quase que do fulgor que dimanava da fina barba daquelas faces. Então, ele olhou finalmente para Banford, mudando sensivelmente de expressão.
- Não tenho dúvidas - disse, na sua voz suave, cortês - de que você é a bondade em pessoa. Mas é demasiada generosidade da sua parte. Bem sei que isso seria um grande incómodo para si.
- Corta um bocado de pão, Nellie - disse Banford, algo constrangida. E acrescentou: - Não é incómodo nenhum, pode ficar à vontade. É como se tivesse aqui o meu irmão a passar alguns dias. Ele é quase da sua idade.
- É demasiada bondade da sua parte - repetiu o rapaz. - Terei todo o gosto em ficar se estiver certa de que não incomodo.
- Não, não incomoda nada. Digo-lhe mais: é mesmo um prazer ter aqui alguém para nos fazer companhia - respondeu a bondosa Banford.
- E quanto a Miss March? - perguntou ele com toda a suavidade, olhando para ela. - Oh, por mim não há problema, está tudo bem - respondeu March num tom vago, abstracto.
O rosto radiante, ele quase esfregou as mãos de satisfação.
- Bom - disse -, nesse caso, terei todo o gosto em ficar, isto se me permitirem que pague a minha despesa e as ajude com o meu trabalho.
- Não precisa de pagar, isto aqui não é pensão - atalhou Banford.
Passado um dia ou dois, o jovem continuava na quinta. Banford estava encantada com ele. Sempre que falava, fazia-o de uma forma suave e cortês, nunca querendo monopolizar a conversa, preferindo antes ouvir aquilo que ela tinha para dizer e rindo-se depois com o seu riso rápido, sacudido, um tanto trocista por vezes. E ajudava-as de boa vontade no trabalho, pelo menos desde que este não fosse muito. Gostava mais de andar por fora, sozinho com a sua espingarda, sempre atento e observador, olhando para tudo com olhos de ver. Pois lia-se-lhe nos olhos ávidos uma insaciável curiosidade por tudo e todos, donde sentir-se mais livre quando o deixavam só, sempre meio escondido em observação, alerta e vigilante.
E era March quem mais gostava de observar, pois o seu estranho carácter intrigava-o e atraía-o ao mesmo tempo. Por outro lado, sentia-se seduzido pela sua silhueta esguia, pelo seu porte grácil, algo masculino. Sempre que a olhava, os seus olhos negros atingiam-no no mais íntimo de si mesmo, faziam-no vibrar de júbilo, despertavam em si uma curiosa excitação, excitação que receava deixar transparecer, tão viva e secreta ela era. E depois aquela sua estranha forma de falar, inteligente e arguta, dava-lhe uma franca vontade de rir. Naquele dia, sentiu que devia ir mais longe, que havia algo a impeli-lo irresistivelmente para ela. Contudo, afastando-a do pensamento, recalcou tais impulsos e saiu porta fora, dirigindo-se para a orla do bosque de espingarda na mão.
Estava já a anoitecer quando se decidiu a voltar para casa, tendo entretanto começado a cair uma daquelas chuvas finas de fins de Novembro. Olhando em frente, viu a luz da lareira bruxuleando por detrás dos vidros da janela da sala, tremular aéreo em meio ao pequeno aglomerado dos edifícios escuros.
E pensou para consigo que não seria nada mau ser dono daquele lugar. E então, insinuando-se maliciosamente, surgiu-lhe a ideia: e porque não casar com March? Totalmente dominado por aquela ideia, quedou-se algum tempo imóvel no meio do campo, o coelho morto pendendo-lhe da mão. Num fervilhar expectante, a sua mente trabalhava, reflectindo, ponderando, calculando, até que finalmente ele sorriu, uma curiosa expressão de aquiescência estampada no rosto. Pois porque não? Sim, realmente porque não? Até era uma boa ideia. Que importava que isso pudesse ser um tanto ridículo? Sim, que importância tinha isso? E que importava que ela fosse mais velha do que ele? Nada, absolutamente nada. E ao pensar nos seus olhos negros, olhos assustados, vulneráveis, sorriu maliciosamente para consigo. Na verdade, ele é que era mais velho do que ela. Dominava-a, era o seu senhor.
Mas até mesmo a seus olhos lhe custava a admitir tais intenções, até mesmo para si estas continuavam secretas, ocultas algures num qualquer surdo recesso da mente. Pois, de momento, ainda era tudo muito incerto. Teria de aguardar o desenrolar dos acontecimentos, ver qual a sua evolução. Sim, tinha de ser paciente. Se não fosse cuidadoso, arriscava-se a que ela, pura e simplesmente, escarnecesse de uma tal hipótese. Pois ele sabia, astuto e sagaz como era, que se fosse ter com ela para lhe dizer assim de chofre: "Miss March, amo-a e quero casar consigo", a resposta dela seria inevitavelmente: "Desapareça. Não quero saber dessas palermices." Seria certamente essa a sua atitude para com os homens e as suas "palermices". Se não fosse cuidadoso, ela dominá-lo-ia, cobri-lo-ia de ridículo no seu tom selvagem, sarcástico, pô-lo-ia fora da quinta, expulsá-lo-ia para sempre do seu próprio espírito. Tinha de ir devagar, suavemente. Teria de a apanhar como quem apanha um veado ou uma galinhola quando vai à caça. De nada serve entrar floresta adentro para dizer ao veado: "Por favor, põe-te na mira da minha espingarda." Não, trata-se antes de uma luta surda, paciente, subtil. Quando se quer de facto ir apanhar um veado, temos de começar por nos concentrarmos, por nos fecharmos sobre nós próprios, dirigindo-nos depois silenciosamente para as montanhas, antes mesmo do amanhecer. Quando se vai caçar, o importante não é tanto aquilo que se faz, é mais aquilo que se sente. Há que ser subtil, astuto, há que estar sempre pronto, ser absolutamente determinado, resoluto no avançar, fatal como o destino. Pois tudo se passa como se mais não houvesse do que um simples destino a cumprir. O nosso próprio destino comanda e determina o destino do veado que se anda a caçar. Em primeiro lugar, antes mesmo de vermos a caça, trava-se uma estranha batalha, uma batalha mesmérica, de magnetismo contra magnetismo. A nossa própria alma, como um caçador, partiu já em busca da alma do veado, e isto mesmo antes de vermos qualquer veado. E a alma do veado luta para lhe escapar. E assim que tudo se passa, antes mesmo de o veado ter captado o nosso cheiro. Trava-se então uma batalha de vontades, subtil, profunda, uma batalha que tem lugar no mundo do invisível. Batalha que só acaba quando a nossa bala atinge o alvo. E quando se chega realmente ao verdadeiro clímax, quando a caça surge por fim na nossa linha de tiro, não vamos então apontar como quando praticamos tiro ao alvo contra uma garrafa. Pois nessa altura é a nossa própria vontade que realmente conduz a bala até ao coração da caça. O voo da bala, directa ao alvo, não passa de uma débil projecção do nosso próprio destino no destino do veado. Tudo acontece enquanto expressão de um supremo desejo, de um supremo acto da vontade, não enquanto demonstração de uma simples habilidade, mera astúcia ou esperteza.
No fundo, ele era um caçador, não um fazendeiro, não um soldado com espírito de regimento. E era como jovem caçador que desejava apanhar March, transformá-la na sua presa, fazer dela sua mulher. Assim, fechou-se subtilmente sobre si mesmo, numa tão grande concentração interior que quase parecia desaparecer numa espécie de invisibilidade. Não estava muito certo de como deveria avançar. Além de que March era mais desconfiada do que uma lebre. Deste modo, decidiu continuar na aparência como aquele jovem desconhecido, estranho e simpático, em estada de quinze dias naquela casa. Naquele dia, passara a tarde a cortar lenha para a lareira. Escurecera muito cedo. Além disso, pairava no ar uma névoa fria e húmida. Quase que já estava demasiado escuro para se ver fosse o que fosse. Um monte de pequenos toros já serrados jazia junto a uma banqueta. March chegou para levar alguns para dentro de casa e outros para o telheiro, enquanto ele se preparava para serrar o último toro. Estava a trabalhar em mangas de camisa, não tendo notado a chegada dela. Ela aproximou-se com uma certa relutância, quase como que a medo. E então ele viu-a curvada sobre os toros recém-cortados, de arestas vivas, aguçadas, e parou de serrar. Como um relâmpago, sentiu um fogo subir-lhe pelas pernas, abrasando-lhe os nervos.
- March? - inquiriu, na sua voz jovem e calma.
Ela olhou por cima dos toros que estava a empilhar.
- Sim? - respondeu.
Ele tentou vê-la através da escuridão, mas não conseguia distingui-la lá muito bem.
A sua imagem chegava-lhe algo esbatida, de contornos vagos, indistintos.
- Quero perguntar-lhe uma coisa - disse então.
- Ah, sim? E o que é? - volveu ela. E havia já na sua voz um certo medo. Mas continuava perfeitamente senhora de si.
- Ora, diga-me - começou ele em tom insinuante, numa voz suave, subtil, penetran-do-lhe os nervos, arrepiando-a. - Que pensa que seja?
Ela endireitou-se, de mãos nas ancas, e ficou a olhar para ele sem responder, como que petrificada. E ele voltou a sentir-se tomado de uma súbita sensação de poder.
- Pois bem - disse, havendo na sua voz uma tal suavidade que mais parecia um leve toque, um simples aflorar, quase como quando um gato estende a pata numa imperceptível carícia, surgindo mais como um sentimento do que como um som. - Pois bem, queria pedir-lhe para casar comigo.
Mais do que ouvir, March sentiu dentro de si o eco daquela frase. Mas era em vão que tentava desviar o rosto. Uma profunda lassidão pareceu então invadi-la. Ficou de pé, silenciosa, a cabeça levemente inclinada para um lado. Ele parecia estar a curvar-se para ela, um sorriso invisível no rosto atento. E ela teve a sensação de que todo ele cintilava, rápidas faíscas dardejando do seu corpo imóvel.
Em tom rápido e abrupto, respondeu então:
- Não me venha para cá com essas palermices.
O rapaz sobressaltou-se, um espasmo nos nervos tensos, contraídos. Soube que falhara o golpe. Quedou-se então uns instantes calado tentando ordenar as ideias. Depois, pondo na sua voz toda aquela estranha suavidade tão peculiar, disse como que num afago, numa quase imperceptível carícia:
- Mas não é palermice nenhuma. Não, não é palermice. Estou a falar a sério, muito a sério. Porque é que não acredita em mim?
Parecia ferido, quase que ofendido. E a sua voz exercia um curioso poder sobre ela, dando-lhe uma sensação de liberdade, de descontracção. Algures dentro de si, ela tentava lutar, debatendo-se em busca das forças que lhe fugiam. Por um momento, sentiu-se perdida, irremediavelmente perdida. Como que moribunda, as palavras tremiam-lhe na boca, teimavam em não sair. De repente, a fala voltou-lhe.
- Você não sabe o que está a dizer! - exclamou, um leve e passageiro tom de escárnio palpitando-lhe na voz. - Mas que disparate! Tenho idade para ser sua mãe.
- Sim, sei muito bem o que estou a dizer. Sei, sim, sei muito bem o que estou a dizer - insistiu ele com enorme suavidade, como se quisesse que ela sentisse no sangue toda a força da sua voz. - Tenho plena consciência daquilo que estou a dizer. E você não tem idade para ser minha mãe, sabe muito bem que isso não é verdade. E mesmo que assim fosse, que importava isso? Pode muito bem casar comigo tenha lá a idade que tiver. Que me importa a idade? E que lhe importa isso a si? A idade não interessa!
Sentiu-se tomada de uma súbita tontura, quase que a desfalecer, quando ele acabou de falar. Ele falava rapidamente, naquela maneira rápida de falar que tinham na Cornualha, e a sua voz parecia ressoar algures dentro dela, lá onde se sentia totalmente impotente contra isso. "A idade não interessa!" Aquela insistência, como ele a dissera, suave e ardente ao mesmo tempo, dava-lhe uma estranha sensação e, por instantes, ali perdida na escuridão, sentiu-se quase a cambalear. E não foi capaz de responder.
Ele exultou, os membros ardendo-lhe, frementes, tomados de incontível júbilo. Sentiu que ganhara a partida.
- Bem vê que quero casar consigo. Porque é que não havia de o querer? - continuou ele, no seu jeito rápido e suave. E ficou à espera de uma resposta. Em meio à escuridão, ela parecia-lhe quase fosforescente. De pálpebras cerradas, o rosto meio de lado, tinha um ar ausente, abstracto. Parecia dominada pelo seu poder, submissa, quase que vencida. Mas ele aguardou, prudente e alerta. Ainda não ousava tocar-lhe.
- Diga lá que sim - volveu ele. - Diga que casa comigo. Vá, diga!... - Falava agora num tom de suave insistência.
- O quê? - perguntou então ela, numa voz frouxa, distante, como de alguém presa de viva dor. A voz do rapaz tornara-se agora incrivelmente meiga, cada vez mais suave. Ele estava agora muito perto dela.
- Diga que sim.
- Não, não posso! - gemeu ela, desamparada, mal articulando as palavras, quase que num estado de semi-inconsciência, como alguém nas vascas da agonia. - Como seria isso possível?
- Claro que pode - respondeu ele com meiguice, pousando-lhe suavemente a mão no ombro enquanto ela permanecia de pé, atormentada e confusa, o rosto de lado, a cabeça descaída. - Pode, claro que pode. Porque diz que não pode? Pode, bem sabe que pode. - E, com extrema ternura, curvou-se para ela, tocando-lhe no pescoço com o queixo, pousando-lhe os lábios, a boca.
- Não, não faça isso! - gritou ela, um grito frouxo, incontrolado, quase que histérico, escapando-se para depois o encarar. - O que quer dizer com isso? - acrescentou ainda. Mas não tinha forças para continuar a falar. Era como se já estivesse morta.
- Exactamente aquilo que disse - insistiu ele, com cruel suavidade. - Quero que case comigo. E isso mesmo, quero que case comigo. Agora já entendeu, não é assim? Já entendeu? Já? Diga que sim...
- O quê? - perguntou ela.
- Se já entendeu?... - replicou ele.
- Sim - respondeu ela. - Sei aquilo que disse.
- E sabe que falo a sério, não sabe?
- Sei aquilo que disse, nada mais.
- E acredita em mim? - perguntou ele então.
Ela quedou-se algum tempo silenciosa. Depois, de rosto tenso, os lábios crisparam-se--lhe, a boca contraiu-se.
- Não sei em que deva acreditar - disse.
- Estão aí fora? - perguntou então uma voz. Era Banford, chamando de dentro de casa.
- Sim, íamos agora levar a lenha - respondeu ele.
- Pensei que se tivessem perdido - disse Banford, num tom algo desconsolado. - Despachem-se, fazem favor, para virem tomar o chá. A chaleira já está a ferver.
Curvando-se de imediato para pegar numa braçada de lenha, ele levou-a então para a cozinha, onde costumavam empilhá-la a um canto. March também ajudou, enchendo os braços de cavacos e transportando-os de encontro ao peito como se carregasse consigo uma criança pesada e gorda. A noite caíra entretanto, fria e húmida.
Depois de levarem toda a lenha para dentro, os dois limparam ruidosamente as botas na grade exterior, esfregando-as depois no tapete. March fechou então a porta e tirou o seu velho chapéu de feltro, o seu chapéu de fazendeira. O cabelo negro, encrespado e espesso, tombava-lhe, solto, sobre os ombros, contrastando com as faces pálidas e cansadas. Com um ar ausente, atirou distraidamente o cabelo para trás e foi lavar as mãos. Banford entrou apressadamente na cozinha mal iluminada a fim de ir buscar os scones1 que deixara no forno a aquecer.
- Mas que diabo estiveram vocês a fazer até agora? - perguntou ela em tom azedo. - Já pensava que nunca mais vinham. E há que tempos que você parou de serrar. Que estiveram vocês a fazer lá fora?
- Bem - disse Henry -, estivemos a tapar aquele buraco no celeiro para os ratos não entrarem.
- Ora essa! Mas eu vi-os no telheiro. Você estava de pé, em mangas de camisa - objectou Banford.
- Sim, nessa altura eu tinha ido arrumar a serra.
Tomaram então o chá. March estava muito calada, um ar absorto no rosto pálido e cansado. O jovem, sempre de rosto corado e ar reservado, como que a vigiar-se a si mesmo, estava a tomar o chá em mangas de camisa, tão à vontade como se estivesse em sua casa. Debruçando-se sobre o prato, comia com toda a sem-cerimónia.
- Não tem frio? - perguntou Banford em tom maldoso. - Assim em mangas de camisa...
Ele olhou para ela, ainda com o queixo junto ao prato, observando-a com olhos claros, transparentes. Fitava-a com o mesmo ar imperturbável de sempre.
- Não, não tenho frio - respondeu ele com a sua habitual cortesia, no seu tom suave e modulado. - Está muito mais quente aqui do que lá fora, sabe...
- Espero bem que sim - retrucou Banford, sentindo que ele a estava a provocar. Aquela estranha e suave autoconfiança que ele tinha, aquele seu olhar brilhante e profundo, contendiam-lhe com os nervos naquela noite.
- Mas talvez - disse ele, suave e cortês - não goste de que eu venha tomar chá sem casaco. Não me lembrei disso.
- Oh, não, não me importo - disse Banford, embora de facto se importasse.
- Não acha que será melhor ir buscá-lo? - perguntou ele.
Os olhos escuros de March viraram-se lentamente para ele.
- Não, não se incomode - disse, num estranho tom nasalado. - Se se sente bem como está, pois deixe-se estar. - Falara de uma forma friamente autoritária.
- Sim - respondeu ele -, sinto-me bem, isto se não estou a ser descortês...
- Bom, isso é normalmente considerado como sinal de má educação - disse Banford. - Mas nós não nos importamos.
- Deixa-te disso! "Considerado sinal de má educação"... - exclamou March, algo intempestiva. - Quem é que considera isso sinal de má educação?
- Ora essa, Nellie! Consideras tu! E até agora sempre o disseste em relação a toda a gente!... - disse Banford, empertigando-se um pouco por detrás dos óculos e sentindo a comida atravessar-se-lhe na garganta.
Mas March voltara a ter aquele seu ar vago e ausente, mastigando a comida como se não tivesse consciência de o estar a fazer. E o jovem observava as duas com olhos vivos e atentos.
Banford sentia-se ofendida. Pois, apesar de toda aquela suavidade e cortesia com que ele sempre falava, o jovem parecia-lhe ser mas era um grande descarado. E não gostava de olhar para ele. Não gostava de encarar aqueles olhos claros e vivos, aquele estranho fulgor que sempre tinha no rosto, aquela barba fina e delicada que lhe ornava as faces, aquela pele estupidamente vermelhusca que, contudo, parecia sempre incendiada por um estranho calor de vida. Quase que se sentia doente ao olhar para ele. Pois a qualidade da sua presença física era demasiado penetrante, demasiado ardente.
Depois do chá, o serão era sempre muito calmo. O jovem raramente saía, raramente ia até à aldeia. Por via de regra, costumava ficar a ler, pois era um grande leitor nas horas vagas. Isto é, quando começava, deixava-se absorver totalmente pela leitura. Mas nunca tinha muita pressa de começar. Muitas vezes, saía para dar longos e solitários passeios pelos campos, seguindo rente às sebes, envolto no negrume da noite. Demonstrava um singular instinto pela noite, vagueando, confiante, enquanto escutava os sons selvagens que lhe chegavam.
Contudo, naquela noite, tirou um livro do capitão Mayne Reid1 da estante de Banford e, sentando-se de joelhos escarranchados, mergulhou na leitura da história. O seu cabelo, de um louro-acastanhado, era um tanto comprido, assentando-lhe na cabeça como um grosso boné, apartado ao lado. Estava ainda em mangas de camisa e, debruçado para a frente sob a luz do candeeiro, com as pernas abertas e o livro na mão, todo o seu ser absorvido no esforço assaz estrénuo da leitura, dava à sala de estar de Banford um ar de quarto de arrumações. E isso irritava-a, ofendia-a. Pois no chão da sala tinha um tapete turco de cor vermelha e franjas negras, a lareira possuía azulejos verdes, de muito bom gosto, o piano estava aberto com a última música de dança encostada ao tampo - ela tocava muito bem, aliás - e nas paredes viam-se cisnes e nenúfares, pintados à mão por March. Além disso, com as achas a arderem trémula e suavemente, o fogo crepitando na grade da lareira, com os espessos cortinados corridos e as portas fechadas, em contraste com o vento que uivava lá fora, fazendo estremecer os pinheiros, a sala era confortável, elegante e bonita. E ela detestava a presença daquele jovem rude, alto e de grandes pernas, as joelheiras de caqui muito espetadas sob o tecido repuxado, para ali sentado com os punhos da sua camisa de soldado abotoados à volta dos grossos pulsos vermelhaços. De tempos a tempos, ele virava uma página, lançando de ora em vez um rápido olhar ao fogo que ardia e ajeitando as achas. Depois, voltava a mergulhar na solitária e absorvente tarefa da leitura.
March, na ponta mais afastada da mesa, fazia o seu croché de uma forma rápida, sacudida.
Tinha a boca estranhamente contraída, como quando sonhara que a cauda do raposo lhe queimava os lábios, o seu belo cabelo negro encaracolado caindo-lhe em madeixas ondulantes. Mas toda ela parecia perdida numa aura de devaneio, como se na verdade estivesse muito longe dali. Numa espécie de sonho acordado, parecia-lhe ouvir o regougar do raposo no vento que assobiava à volta da casa, um cântico selvagem e doce como uma louca obsessão. Com as suas mãos rosadas e bem feitas, desfiava vagarosamente o algodão branco num croché lento, desajeitado.
Banford, sentada na sua cadeira baixa, tentava igualmente ler. Mas sentia-se algo nervosa no meio daqueles dois. Não parava de se mexer e de olhar em volta, ouvindo o sibilar do vento enquanto espreitava furtivamente ora um ora outro dos seus companheiros. March, de costas direitas contra o espaldar da cadeira, as pernas cruzadas sob as calças justas, entregue ao seu croché lento, laborioso, também a deixava preocupada.
- Oh, meu Deus! - exclamou Banford. - Os meus olhos não estão nada bons esta noite. - E esfregava-os com os dedos.
O jovem levantou a cabeça, fitando-a com olhos claros e vivos, mas nada disse.
- Ardem-te, é, Bill? - perguntou March distraidamente.
O jovem recomeçou então a ler e Banford viu-se obrigada a voltar ao seu livro. Mas não conseguia estar quieta. Ao fim de algum tempo, olhou para March, um estranho sorriso maldoso desenhando-se-lhe no rosto magro.
-Um penny1 pelos teus pensamentos, Nellie - disse, de súbito.
March olhou em volta com um ar espantado, os olhos negros muito abertos, tornando--se então muito pálida, como se tomada de pânico. Tinha estado a ouvir o cântico do raposo, elevando-se nos ares com uma tão profunda, inacreditável ternura, enquanto ele errava em torno da casa.
- O quê? - perguntou num tom abstracto.
- Um penny pelos teus pensamentos - repetiu Banford, sarcástica. - Ou até mesmo dois, se forem assim tão profundos.
O jovem, do seu canto sob o candeeiro, observava-as com olhos vivos e brilhantes.
- Ora - volveu March, na sua voz ausente -, porque hás-de desperdiçar assim o teu dinheiro?
- Achei que talvez fosse bem gasto - replicou Banford.
- Não estava a pensar em nada de especial, apenas no soprar do vento à volta da casa - disse então March.
- Oh, céus! - retorquiu Banford. - Até eu podia ter tido um pensamento tão original como esse. Desta vez, receio bem ter desperdiçado o meu dinheiro.
- Bom, não precisas de pagar - disse March.
De repente, o jovem pôs-se a rir. Ambas as mulheres olharam então para ele, March com um certo ar de surpresa, corr� se só então se desse conta da sua presença.
- Mas então costumam sempre pagar em tais ocasiões? - perguntou ele.
- Oh, claro - disse Banford. - Pagamos sempre. Houve alturas em que tive de pagar à Nellie um xelim por semana, isto no Inverno, pois no Verão fica muito mais barato.
- O quê? Mas então pagam pelos pensamentos uma da outra? - disse o jovem, rindo.
- Sim, quando já não há absolutamente mais nada com que nos entretermos.
Ele ria por acessos, de uma forma brusca, sacudida, franzindo o nariz como um cachorrinho, um vivo prazer no riso dos olhos brilhantes.
- É a primeira vez que oUço falar em tal coisa - disse então.
- Acho que já a teria ouvido muitas vezes se tivesse de passar um Inverno em Bailey Farm - retrucou Banford err tom lastimoso.
- Mas então aborrecem-se assim tanto? - perguntou ele.
- Mais do que isso! - exclamou Banford.
- Oh! - disse ele com ar grave. - Mas por que é que se hão-de aborrecer?
E quem não se aborreceria? - respondeu Banford.
-- Lamento muito saber disso - disse cu Ião ele com solene gravidade.
- E é mesmo de lamentar, especialmente He pensa que se vai divertir muito por aqui - volveu Banford.
Ele olhou-a demoradamente, um ar de seriedade estampado no rosto.
- Bom - disse, com aquela sua jovem e estranha gravidade -, por mim sinto-me aqui muito bem, até me divirto bastante.
- Pois folgo em ouvi-lo - retrucou Banford. E voltou ao seu livro. Apesar de ainda não ter trinta anos já se viam nos seus cabelos finos, algo frágeis e ralos, muitos fios grisalhos. O rapaz, não tendo baixado os olhos para o livro, fitava agora March, que permanecia sentada entregue ao seu laborioso croché, os olhos esbugalhados e ausentes, a boca crispada. Tinha uma pele quente, ligeiramente pálida e fina, um nariz delicado. A boca crispada dava-lhe um ar azedo. Mas esse aparente azedume ira contrariado pelo curioso arquear das sobrancelhas negras, pela amplitude do seu olhar, um ar de maravilha e incerteza nos olhos espantados. Estava outra vez a tentar ouvir o raposo, que entretanto parecia ter-se afastado, errando agora nas lonjuras da noite.
O rapaz, sentado junto ao candeeiro, o rosto erguido assomando por sob o rebordo do quebra-luz, observava-a em silêncio, um ar atento nos olhos arredondados, muito vivos e claros. Banford, mordiscando os dedos, irritada, olhava-o de soslaio por entre os cabelos caídos. Quedando-se sentado numa imobilidade de estátua, o rosto avermelhado inclinado por sob a luz para emergir um pouco abaixo desta no limiar da penumbra, ele continuava a observar March com um ar de absorta concentração. Esta, erguendo subitamente os grandes olhos negros do croché, olhou-o por seu turno. E, ao encará-lo, soltou uma pequena exclamação de sobressalto.
- Lá está ele! - gritou de modo involuntário, como alguém terrivelmente assustado.
Banford, estupefacta, passeou os olhos pela sala, endireitando-se na cadeira.
- Mas o que é que te deu, Nellie? - exclamou ela.
Mas March, um leve tom rosa nas faces ruborizadas, estava a olhar para a porta.
- Nada! Nada! - respondeu de mau modo. - Já não se pode falar?
- Pode, claro que pode - disse Banford. - Desde que tenha algum sentido... Mas que querias tu dizer?
- Não sei, não sei o que quis dizer - replicou March, impaciente.
- Oh, Nellie, espero que não estejas a tornar-te - nervosa e irritável. Sinto que não poderia suportá-lo! Mais isso, não! - disse a pobre Banford, num ar assustado. - Mas a quem te referias? Ao Henry?
- Sim, suponho que sim - declarou March, lacónica. Nunca teria tido coragem de falar do raposo.
- Oh, meu Deus! Esta noite estou com os nervos arrasados - lamentou-se Banford.
Às nove horas, March trouxe um tabuleiro com pão, queijo e chá, pois Henry declarara preferir uma chávena de chá. Banford bebeu um copo de leite acompanhado com um pouco de pão. E mal acabara ainda de comer quando disse:
- Vou-me deitar, Nellie. Esta noite estou uma pilha de nervos. Não vens também?
- Sim, vou já, é só o tempo de ir arrumar o tabuleiro - respondeu March.
- Não te demores, então - disse Banford, algo agastada. - Boa noite, Henry. Se for o último a subir, não se esqueça do lume, está bem?
- Sim, Miss Banford, não me esquecerei, esteja descansada - replicou ele em tom tranquilizador.
Enquanto Banford subia as escadas já de palmatória na mão, March acendia entretanto uma vela a fim de ir até à cozinha. Ao voltar à sala, aproximou-se da lareira e, virando-se para ele, disse-lhe:
- Suponho que podemos contar consigo para apagar o lume e deixar tudo em ordem, não? - Estava de pé, uma mão apoiada na anca, o joelho flectido, a cabeça timidamente desviada, um pouco de lado, como se não pudesse olhá-lo de frente. De rosto erguido, ele observava-a em silêncio.
- Venha sentar-se aqui um minuto - disse então.
- Não, tenho de ir andando. Jill está à minha espera e pode ficar inquieta se eu não for já.
- Porque se sobressaltou daquela maneira há bocado? - perguntou ele.
- Mas eu sobressaltei-me? - retorquiu ela, olhando-o.
- Ora essa! Ainda há instantes - disse ele. - Na altura em que você gritou.
- Oh, isso! - exclamou da. - Bom, é que o tomei pelo raposo! - E contraiu o rosto num estranho sorriso, meio embaraçado, meio irónico.
- O raposo! Mas porquê o raposo? - inquiriu ele com grande suavidade.
- Bom, é que no Verão passado, numa tarde em que tinha saído de espingarda, vi o raposo por entre as ervas, quase ao pé de mim, a olhar-me fixamente. Não sei, suponho que foi isso que me impressionou. - E voltou a virar a cabeça, balouçando ao de leve um dos pés, com um ar constrangido.
- E matou-o? - perguntou o rapaz.
- Não, pois ele pregou-me um tal susto, ali a olhar muito direito para mim, que o deixei afastar-se. Mas depois voltou a parar, virando-se então para trás e olhando-me como que a rir-se...
- Como que a rir-se! - repetiu Henry, rindo--se por seu turno. - E isso assustou-a, não foi?
- Não, ele não me assustou. Apenas me impressionou, mais nada.
- E pensou então que eu era o raposo, não é? - disse ele, rindo daquela forma estranha, sacudida, um ar de cachorrinho no nariz franzido.
- Sim, na altura pensei - respondeu ela. - Se calhar, e ainda sem o saber, não me saiu da cabeça desde então.
- Ou talvez você pense que eu vim cá roubar-lhe as galinhas ou algo assim - retorquiu ele, naquele seu riso juvenil.
Mas ela limitou-se a olhá-lo com um ar vago e ausente nos grandes olhos negros.
- E a primeira vez - disse então ele - que me confundem com um raposo. Não quer sentar-se por um minuto? - Falava agora num tom de grande suavidade, meigo e persuasivo.
- Não, não posso - volveu ela. - Jill deve estar à espera. - Mas deixou-se ficar especada, um pé a bambolear, o rosto desviado, ali parada no limiar do círculo de luz.
- Mas não quer então responder à minha pergunta? - disse ele, baixando ainda mais a voz.
- Não sei a que pergunta se refere.
- Sabe, sim. E claro que sabe. Eu perguntei-lhe se se queria casar comigo.
- Não, não devo responder a uma tal pergunta - replicou ela, categórica.
- Mas porque não? - E voltou a franzir o nariz, de novo tomado por aquele seu curioso riso juvenil. - E porque eu sou como o raposo? E por isso? - E ria-se com gosto.
Virando-se, ela fitou-o num olhar lento, demorado.
- Não deixarei que isso se interponha entre nós - disse ele então. - Deixe-me baixar a luz e venha sentar-se aqui um instante.
Enfiando a mão por baixo do quebra-luz, a pele vermelha quase incandescente sob o fulgor da lâmpada, baixou subitamente a luz até quase a apagar. March, sem se mover, quedou--se de pé em meio à obscuridade, indistinta, vaga, quase irreal. Então, ele ergueu-se silenciosamente, firmando-se nas suas longas pernas. E falava agora com uma voz extraordinariamente suave e sugestiva, quase inaudível.
- Deixe-se ficar um momento - disse. - Só um momento. - E pôs-lhe a mão no ombro. Ela virou-se então para ele. - Não acredito que possa realmente pensar que sou como o raposo - continuou ele com a mesma suavidade, uma leve sugestão de riso no tom algo trocista. - Não está a pensar nisso agora, pois não? - E, com extrema gentileza, atraiu-a para si, beijando-lhe suavemente o pescoço. Ela retraiu-se, estremecendo, e tentou escapar-lhe. Mas o braço dele, jovem e forte, fê-la imobilizar-se, enquanto ele voltava a beijá-la no pescoço com grande suavidade, pois ela insistia em desviar o rosto.
- Não quer responder à minha pergunta? Não quer? Agora, aqui mesmo... - voltou a repetir numa voz suave, arrastada, quase langorosa. Estava agora a tentar puxá-la mais para si, a tentar beijá-la no rosto. Beijou-a então numa das faces, junto ao ouvido.
Nesse momento, ouviu-se a voz de Banford, enfadada e azeda, a chamar do alto das escadas.
- É Jill! - exclamou March, endireitando--se, assustada.
Porém, ao fazê-lo, ele, rápido como um relâmpago, beijou-a na boca, um beijo corrido, quase de raspão. Ela sentiu que todo o seu ser se lhe incendiava, que todas as fibras lhe ardiam. Deu então um estranho grito, curto e rápido.
- Casa, não casa? Diga que sim! Casa? - insistiu ele suavemente.
- Nellie! Nellie! Porque é que te demoras tanto? - voltou a gritar Banford, numa voz fraca, distante, vinda da escuridão envolvente.
Mas ele mantinha-a bem segura, continuando a murmurar-lhe com intolerável suavidade e insistência:
- Casa, não casa? Diga que sim! Diga que sim!
March, com a sensação de estar possuída por um fogo abrasador, as entranhas a arder, sentindo-se destruída, incapaz de reagir, limitou-se a murmurar:
- Sim! Sim! Tudo o que quiser! Tudo o que quiser! Mas deixe-me ir! Deixe-me ir! Jill está a chamar!
- Não se esqueça do que prometeu - disse então ele, insidiosamente.
- Sim! Sim! Bem sei! - Falava agora num tom subitamente alto, com uma voz gritada, estridente, quase que um guincho. - Está bem, Jill, vou já!
Surpreendido, ele largou-a. Quase a correr, ela subiu então rapidamente as escadas.
Na manhã seguinte, depois de ter dado as suas voltas e tratado dos animais, pensando para consigo que até se podia ali viver muito bem, disse para Banford enquanto tomavam o pequeno-almoço:
- Sabe uma coisa, Miss Banford?
- Diga lá! O que é? - respondeu Banford, com o seu ar nervoso e afável de sempre.
Ele olhou então para March, ocupada a pôr geleia no pão.
- Digo-lhe? - perguntou-lhe.
Ela olhou para ele, o rosto invadido por um intenso rubor róseo.
- Sim, se se está a referir a Jill - respondeu ela. - Só espero que não vá espalhar por toda a aldeia, nada mais. - E engoliu o pão seco com uma certa dificuldade.
- Bom, que irá sair daí? - disse Banford, erguendo os olhos vazios e cansados, ligeiramente vermelhos também. Era uma figurinha fina, frágil, com um cabelo curto, delicado e ralo, de tons desmaiados, já algo grisalho no seu castanho-claro, caindo-lhe suavemente sobre o rosto macilento.
- Pois que pensa que possa ser? - indagou ele, sorrindo como quem está de posse de um segredo.
- Como hei-de eu saber?! - exclamou Banford.
- Não pode adivinhar? - insistiu ele, de olhos brilhantes, um sorriso de profunda satisfação estampado no rosto.
- Não, creio bem que não. Mais, nem sequer me vou dar ao trabalho de tentar.
- Nellie e eu vamo-nos casar.
Banford soltou a faca, deixando-a cair dos dedos magros e delicados como quem não tivesse qualquer intenção de voltar a comer com ela em dias da sua vida. E ficou ali a olhar, perplexa, os olhos atónitos e avermelhados.
- Vocês o quê?! - exclamou então.
- Vamo-nos casar. Não é verdade, Nellie? - disse ele, virando-se para March.
- Pelo menos é o que você diz - respondeu esta, lacónica. Mas de novo o rosto se lhe ruborizou num fulgor de agonia. E também ela se sentia agora incapaz de engolir.
Banford olhou-a qual pássaro mortalmente atingido, um pobre passarinho doente, abandonado e só. E, com um rosto em que se lia todo o sofrimento que lhe ia na alma, envolveu March, profundamente ruborizada, num olhar de espanto, pasmo e dor.
- Nunca! - exclamou então, sentindo-se desamparada e perdida.
- Pois é bem verdade - disse o jovem, um brilho maldoso nos olhos exuberantes.
Banford desviou o rosto, como se a simples visão da comida na mesa lhe desse agonias. E, como se estivesse realmente enjoada, quedou-se assim sentada durante algum tempo. Então, apoiando uma mão na borda da mesa, pôs-se finalmente de pé.
- Nunca acreditarei nisso, Nellie, nunca! - gritou. - É absolutamente impossível!
Havia na sua voz aflita e plangente um leve tom de desespero, de fúria, quase que de raiva.
- Porquê? Porque não deveria acreditar? - perguntou o jovem, com aquele seu tom de impertinência na voz suave e aveludada.
Banford olhou para ele do fundo dos seus olhos vagos e ausentes, como se ele não passasse de um qualquer animal de museu.
- Oh! - disse ela em voz fraca. - Porque ela não pode ser assim tão louca, não pode ter perdido o seu amor-próprio a um ponto tal. - Falava de forma desgarrada, como que à deriva, numa voz desanimada e dolente.
- Mas em que sentido é que ela iria perder o seu amor-próprio? - perguntou o rapaz.
Por detrás dos óculos, Banford olhou-o fixamente com um ar distante e ausente.
- Se é que já não o perdeu - disse.
Sob a insistência daquele olhar vago e abstracto, emergindo por detrás das grossas lentes, ele tornou-se muito vermelho, quase escarlate, o rosto febril, afogueado.
- Não estou a perceber nada - disse então.
- Se calhar, não. Aliás, não esperava que percebesse - respondeu Banford naquele seu tom suave, distante e arrastado, que tornava as suas palavras ainda mais insultuosas.
Ele inteiriçou-se na cadeira, quedando-se rigidamente sentado, os seus olhos azuis a brilharem, ardentes, no rosto escarlate. Fitava-a agora de sobrolho carregado, um ar de ameaça no rosto tenso.
- Palavra que ela não sabe em que é que se está a meter - continuou Banford na mesma voz plangente, arrastada, insultuosa.
- Mas que é que isso lhe importa, afinal de contas? - disse o jovem, irritado.
- Provavelmente muito mais do que a si - replicou ela, a voz simultaneamente dolente e venenosa.
- Ah, sim?! Pois olhe que continuo sem perceber nada! - explodiu ele.
- É natural. Aliás, não creio que o pudesse perceber - retorquiu ela, evasiva.
- De qualquer forma - disse March, empurrando a cadeira para trás e levantando--se, abrupta -, não serve de nada estar para aqui a discutir. - E, agarrando no pão e no bule do chá, dirigiu-se a passos largos para a cozinha.
Banford, como que em êxtase, passou uma mão pela testa, os dedos trémulos e nervosos errando-lhe ao longo dos cabelos. Depois, voltando costas, desapareceu escada acima.
Henry deixou-se ficar sentado, um ar rígido e carrancudo, de rosto e olhos em fogo. March andava de cá para lá, levantando a mesa. Mas Henry não arredava pé, paralisado pela raiva. Quase que nem dava por ela. Esta readquirira a sua habitual compostura, exibindo uma tez cremosa, macia, uniforme. Contudo, os lábios permaneciam cerrados, a boca crispada. Mas sempre que vinha buscar coisas da mesa, deitava-lhe um rápido olhar, espreitando-o com os seus grandes olhos atentos, mais por simples curiosidade do que por qualquer outro motivo. Um rapaz tão crescido, com um rosto tão carrancudo e vermelhusco! Ei-lo tal como agora estava, para ali sentado muito quieto. Além disso, parecia estar muito longe dali, tão distante dela como se o seu rosto afogueado não passasse de um simples cano vermelho de chaminé numa qualquer cabana perdida algures nos campos. E ela observava-o com a mesma distanciação, com a mesma objectividade.
Finalmente, ele levantou-se e, com um ar grave, saiu porta fora a grandes passadas, dirigindo-se para os campos de espingarda na mão. Só voltou à hora do almoço, o mesmo ricto demoníaco no rosto irado, mas com modos assaz delicados e corteses. Ninguém disse nada de especial, tendo ficado sentados em triângulo, cada um em sua ponta, todos com um ar abstracto, ausente, fechados no mesmo obstinado silêncio. De tarde, voltou a sair de espingarda na mão, retirando-se imediatamente após a comida. Voltou ao cair da noite com um coelho e um pombo, quedando-se então em casa durante todo o serão, quase sem dizer palavra. Estava furioso, enraivecido, com a sensação de ter sido insultado.
Banford tinha os olhos vermelhos, obviamente por ter estado a chorar. Mas os seus modos eram mais distantes e sobranceiros do que nunca, especialmente na forma como desviava o rosto quando ele, por acaso, calhava falar, como se o considerasse um vagabundo um reles intruso, enfim, um miserável qualquer da mesma laia, pelo que os olhos azuis do rapaz quase que se tornavam negros de raiva, uma expressão ainda mais carregada no rosto sombrio. Mas nunca perdia o seu tom de polidez sempre que abria a boca para falar.
March, pelo contrário, parecia rejubilar naquela atmosfera. Sentada entre os dois antagonistas, bailava-lhe no rosto um leve sorriso perverso, como que profundamente divertida com tudo aquilo. Quase que até havia uma espécie de complacência no modo como naquela noite trabalhava no seu lento e laborioso croché.
Uma vez deitado, o jovem deu-se conta de que as duas mulheres conversavam e discutiam no quarto delas. Sentando-se na cama, apurou o ouvido na tentativa de perceber aquilo que estavam a dizer. Mas não pôde ouvir nada, pois os quartos ficavam demasiado longe um do outro. Não obstante, foi-lhe possível distinguir o timbre brando e plangente da voz de Banford em contraponto com o tom de March, mais fundo e cavo.
Estava uma noite calma, silenciosa e glacial. Grandes estrelas cintilavam no céu, para lá dos cumes mais altos dos pinheiros. Atento, ele escutava e tornava a escutar. Na distância, ouviu o regougar do raposo, o ladrar dos cães que lhe respondiam das quintas. Mas nada disso lhe interessava. De momento, o seu único interesse era poder ouvir aquilo que as duas mulheres estavam a dizer.
Saltando furtivamente da cama, pôs-se de pé junto à porta. Mas, tal como antes, era-lhe impossível ouvir fosse o que fosse. Então, com todo o cuidado, começou a levantar o trinco e, ao fim de algum tempo, a porta deu finalmente de si. Depois, esgueirando-se sub-repticiamente para o corredor, deu alguns passos cautelosos. Mas as velhas tábuas de carvalho, geladas sob os seus pés nus, estavam com rangidos insólitos, inoportunos. Pé ante pé, deslizou então com todo o cuidado, sempre rente à parede, até atingir o quarto das raparigas. Imobilizando-se aí, junto à porta, susteve a respiração e apurou o ouvido. Era Banford quem estava agora a falar:
- Não, isso ser-me-ia pura e simplesmente insuportável. Um mês que fosse e estaria morta. Aliás, é isso mesmo que ele pretende, é claro. E esse o seu jogo, ver-me enterrada no cemitério. Não, Nellie, se fizeres uma coisa dessas, se casares com ele, não poderás ficar aqui. Eu nunca poderia viver com ele na mesma casa. Oh! Só o cheiro das roupas dele quase que me põe doente. E aquela cara sempre vermelha, sempre congestionada... Dá-me cá umas agonias que até se me revolvem as entranhas! Nem consigo comer quando ele está à mesa, parece que a comida não me passa da garganta. Que louca fui em deixá-lo cá ficar! Nunca nos devemos deixar levar pela nossa bondade, é o que é. Praticar boas acções paga-se sempre muito caro... E como um bumerangue, viram-se sempre contra nós...
- Bem, também já só faltam dois dias para se ir embora - disse March.
- Sim, graças a Deus! E, uma vez fora, não voltará a pôr os pés nesta casa. Sinto-me tão mal quando ele cá está!... E eu bem sei que ele mais não quer do que explorar-te, aproveitar--se de ti... E só isso que lhe interessa, nada mais. Ele não passa de um inútil, de um imprestável! Não quer trabalhar, só pensa em viver à nossa custa... Ah, mas para cá vem de carrinho, que comigo não conta ele!... Se te queres armar em parva, isso é lá contigo! Olha, Mrs. Burguess conheceu-o muito bem quando ele cá viveu. E sabes o que ela diz?... Que o velhote nunca conseguiu que ele fizesse qualquer trabalho direito. Estava sempre a escapar-se para andar por aí de espingarda na mão, tal como faz agora. E só disso que ele gosta, de andar para aí de espingarda! Oh, como eu detesto essa mania, meu Deus, como eu a odeio!... Tu não sabes no que te vais meter, Nellie, não sabes. Se casares com ele, ele vai fazer de ti parva! Mais tarde ou mais cedo, acaba por se pôr ao fresco e deixa-te para aí em apuros. Sim, sim, que eu bem sei!... Isto se não nos conseguir esbulhar de Bailey Farm... Ah, mas disso está ele livre, pelo menos enquanto eu viver!... Enquanto eu viver, ele nunca voltará a pôr aqui os pés, isso te garanto eu!... Sim, que eu bem sei o que iria sair daí. Não ia tardar muito que não começasse a armar em senhor, pensando que podia mandar em nós... Aliás, como já pensa que manda em ti.
- Mas não manda - replicou Nellie.
- Seja como for, ele pensa que manda. E é isso mesmo que ele quer, meter-se aqui e ser ele o dono e senhor. Sim, estou mesmo a vê--lo, a querer mandar em tudo! E será que foi para isso que decidimos instalar-nos aqui, para sermos escravizadas e brutalizadas por um tipo odioso e sanguíneo, um qualquer jornaleiro bestial? Oh, não há dúvida de que cometemos um terrível erro ao deixá-lo cá ficar! Nunca nos devíamos ter rebaixado a esse ponto. E eu que tanto tive de lutar com a gente desta terra para não ter de descer ao seu nível. Não, ele não vai cá ficar. Ah, e então hás-de ver!... Se não se puder instalar por aqui com armas e bagagens, vai voltar a desaparecer, a partir para o Canadá ou para qualquer outro lado, abandonando-te como se tu nunca tivesses existido. E lá ficarás tu completamente arruinada, para aí feita uma parva, objecto do escárnio de toda esta gente. E eu sei que nunca mais poderei ter paz, que nunca mais me poderei recompor...
- Pois vamos dizer-lhe que não pode cá ficar. Vamos dizer-lhe que não pode ser, que tem de partir, está bem? - disse March.
- Oh, não te incomodes! Sou eu quem lho vai dizer, isso e muito mais, antes de ele se ir embora. Não vai ser tudo como ele quer, pelo menos enquanto me restarem forças para falar, isso to garanto. Oh, Nellie, ele vai desprezar-te como besta que é, aquele imundo animal! Basta que lhe dês azo e vais ver. Ser-me-ia mais fácil acreditar num gato que não roubasse do que ter qualquer confiança nele. Ele é dissimulado, prepotente, egoísta da cabeça aos pés, frio como gelo. Só quer aproveitar-se de ti, nada mais. E quando já não lhe interessares, quando já não lhe servires para nada, pobre de ti!
- Bom, também não creio que seja assim tao mau... - disse March.
- Pois enganaste! Pensas isso porque contigo ele anda a disfarçar. Mas espera até o conheceres melhor e hás-de ver. Oh, Nellie nem aguento pensar nisso! Pensar em ti assim...
- Mas, querida Jill, tu não terás nada a ver com isso! Nada te acontecerá, não tens que ter receio...
- Ah, não? Nada me acontecerá, não é?... Isso dizes tu, mas eu sei que nunca mais terei um momento de descanço, que nunca mais voltarei a ser feliz. Não, Nellie, nunca mais serei feliz!... - E Banford pôs-se a chorar amargamente.
O rapaz, de pé do lado de fora da porta, pôde ouvir os soluços abafados da mulher. Depois, a voz de March, que no seu tom profundo, suave, terno, confortava, com gentileza e ternura, a amiga lavada em lagrimas.
Tinha os olhos desmesuradamente abertos, tão redondos e vazios que dir-se-ia conterem em si toda a imensidão da noite, além de que os ouvidos, como que descolados da cabeça, quase que pareciam querer saltar fora. Estava meio morto de frio, o corpo gelado e hirto. Então, deslizou silenciosamente de volta ao quarto, voltando a deitar-se na cama. Mas sentia uma dor aguda no alto da cabeça, como se esta lhe fosse estalar. Assim, não conseguia dormir nem estar quieto. Decidindo, pois, levantar-se, vestiu-se com todo o cuidado, evitando fazer barulho, e voltou a sair para o patamar. As mulheres estavam agora em silencio. Descendo cautelosamente as escadas, dirigiu-se então até à cozinha.
Uma vez aí, calçou as botas, pôs o sobretudo e pegou na espingarda. Não que tenha pensado em se afastar da quinta. Apenas pegou na espingarda, nada mais. Tão silenciosamente quanto possível, abriu a porta e saiu para o exterior, mergulhando assim no frio glacial daquela noite de Dezembro. Estava um ar parado, com as estrelas a cintilarem lá no alto por sobre os picos acerados dos pinheiros, recortando-se, sussurrantes, contra o céu límpido e claro. Dirigindo-se furtivamente para junto de uma sebe, olhou em volta à procura de caça. Porém, lembrou-se de repente de que não devia disparar para não assustar as mulheres.
Assim, ladeando os montes de tojo, cortando depois através do matagal por entre velhos e altos azevinhos, foi perscrutando a escuridão com olhos tão dilatados e brilhantes como os de um gato, simultaneamente negros e luzidios, capazes de penetrarem as trevas com tanta acuidade como se fosse dia. Um mocho piava monótona e lastimosamente junto de um velho carvalho. Avançando devagar, pé ante pé num passo furtivo, a espingarda bem firme na mão, ele seguia atento, ouvido à escuta, alerta ao menor ruído.
Ao chegar junto dos carvalhos da orla do bosque, parando por instantes para apurar melhor o ouvido, deu-se conta de que os cães da cabana vizinha, no alto da colina, tinham desatado subitamente a ladrar, como que alvoroçados, acordando assim os cães das quintas em redor que ladravam agora em resposta. E, de repente, teve a sensação de que a Inglaterra se tornava mais pequena e acanhada, que a própria paisagem como que se contraía na escuridão, que demasiados cães povoavam a noite com um estrépito semelhante a uma barreira de som, como um labirinto de sebes inglesas em que a vista se enredasse, baralhada e perdida. E sentiu que o raposo não tinha qualquer hipótese. Pois só podia ter sido o raposo a desencadear todo aquele tumulto.
Aliás, porque não pôr-se à espera dele? Na certa que devia vir por aí, farejando tudo em seu redor. O rapaz desceu então a colina até ao local onde a quinta e alguns raros pinheiros se acocoravam no escuro. Chegando junto ao comprido barracão, agachou-se numa esquina, em meio às trevas envolventes. Sabia que o raposo estava a chegar. E pareceu-lhe a ele que aquele devia ser o último da sua espécie naquela Inglaterra repleta de clamorosos latidos, ininterruptos e furiosos, correndo, acossado, por entre um nunca mais acabar de casas, casinhas e casinhotos.
Deixou-se estar sentado por longo tempo, olhos invariavelmente fixos no portão aberto, lá onde parecia haver uma pálida luz, quem sabe se vinda das estrelas ou do horizonte. Estava sentado num toro com a espingarda em cima dos joelhos, oculto num canto escuro. De quando em vez, ouvia os estalidos dos pinheiros. No celeiro, houve uma altura em que uma galinha, tendo caído do poleiro com um baque surdo, desatou a cacarejar, alvoroçada, pelo que ele se ergueu, estremecendo, e ficou a olhar, olhos e ouvidos muito abertos, pensando que tivesse sido um rato. Mas não, sentiu que não fora nada. Assim, voltou a sentar-se com a espingarda em cima dos joelhos e as mãos enfiadas debaixo dos braços para as aquecer, o olhar fixamente cravado na pálida luminosidade do portão aberto, sem um pestanejo sequer nos olhos firmes e atentos. Entrando-lhe pelas narinas, sentiu o odor quente, enjoativo e forte das galinhas que dormiam, pairando no ar frio e cortante.
E então... Uma sombra. Deslizando pelo portão, viu passar uma sombra. Concentrando o olhar num único e poderoso foco visual, viu então a sombra do raposo, viu o raposo rastejando sobre o ventre através do portão. Lá estava ele, de ventre rastejante como uma cobra. Sorrindo para consigo, o rapaz levou a arma ao ombro. Sabia perfeitamente como tudo se iria passar. Sabia que o raposo se ia dirigir para junto das tábuas da porta do galinheiro, pondo-se aí a farejar. E sabia que ele se ia quedar aí uns instantes, sentindo o cheiro das galinhas no interior. Então, pôr-se-ia de novo a rondar por ali, focinho rente ao chão junto às paredes do velho celeiro, à espera de descobrir por onde entrar.
A porta do galinheiro ficava ao cimo de uma ligeira subida. Tão suave e imperceptível como uma sombra, o raposo rastejou ao longo da subida e acocorou-se de focinho encostado às tábuas. Nesse preciso momento, ouviu-se o estrondo ensurdecedor do disparo da caçadeira ecoando entre os velhos edifícios, quase como se a noite tivesse explodido, mil e um estilhaços voando no ar. Mas o rapaz quedou-se na expectativa, olhar atento e brilhante. E viu então o ventre branco do raposo, as patas do animal debatendo-se no ar nas vascas da agonia. Depois, encaminhou-se para lá.
Em redor, a agitação e o tumulto eram indescritíveis. As galinhas debatiam-se e cacarejavam, os patos grasnavam, o pónei escouceava, enlouquecido. Mas a seu lado estava o raposo, o corpo percorrido pelos espasmos da morte. Debruçando-se sobre ele, o rapaz aspirou aquele característico odor vulpino.
Ouviu então o ruído de uma janela a abrir-se no andar de cima, chegando-lhe depois aos ouvidos a voz de March, inquirindo num grito:
- Quem está aí?
- Sou eu - disse Henry. - Acabo de disparar sobre o raposo.
- Oh, meu Deus! Sabe que quase nos matou de susto?
- Ah, sim? Lamento imenso.
- Mas porque é que se levantou?
- Ouvi-o, ou melhor, senti que ele andava por aqui.
- E então, matou-o?
- Sim, está aqui - disse o rapaz, de pé no meio do pátio, erguendo no ar o corpo ainda quente do animal. - Consegue vê-lo, não consegue? Espere um instante. - E, tirando a lanterna eléctrica do bolso, fê-la incidir no corpo morto do raposo, dependurado pela cauda na sua mão robusta. March viu então, em meio às trevas circundantes, a pelagem avermelhada, o ventre alvo, a mancha branca por debaixo do focinho pontiagudo, as patas pendentes, algo grotescas naquela estranha pose, abandonadas, sem vida. Não soube que dizer.
- E uma beleza - disse então ele. - Vai ficar com uma linda pele para poder usar quando lhe apetecer.
- Nunca me há-de ver com uma pele de raposa, disso pode ter a certeza - respondeu ela.
- Oh! - exclamou o rapaz, apagando a lanterna.
- Bom, acho que agora devia vir para dentro e voltar a deitar-se - aconselhou ela.
- Sim, provavelmente é o que farei. Que horas são?
- Que horas são, Jill? - perguntou March lá para dentro. Era uma menos um quarto.
Naquela noite, March teve outro sonho. Sonhou que Banford tinha morrido, e que ela, March, de coração despedaçado, chorava amargamente. Depois, tinha de pôr Banford num caixão. E o caixão não era mais do que a tosca caixa de madeira que tinham na cozinha, junto ao fogo, e da qual se serviam para guardar a lenha miúda. Este era o caixão, pois não havia mais nada que pudesse servir, pelo que March, perfeitamente desesperada, andava numa aflição doida à procura de qualquer coisa com que forrar a caixa, de qualquer coisa que a tornasse mais macia, de qualquer coisa com que pudesse também cobrir o pobre corpo morto da sua querida amiga. Pois não podia deixá-la ali deitada só com o seu roupão branco vestido, naquela horrível caixa de madeira. Assim, procurou e voltou a procurar, rebuscando tudo, pegando nisto e naquilo, examinando peça após peça para logo as pôr de lado, o coração opresso pela frustração de nada encontrar na agonia do seu sonho. E em todo o seu desespero subconsciente nada mais achou que pudesse servir, tão-só uma pele de raposo. Sabia que isso não estava certo, que não era próprio para o fim em vista, mas foi tudo o que pôde achar. E então dobrou a cauda do raposo, pousando nela a cabeça da sua querida Jill, e aproveitou a pele do mesmo para com ela cobrir a parte superior do corpo, de tal modo que este tinha o ar de jazer sob uma colcha escarlate, de um vermelho chamejante. À vista disso, desatou a chorar convulsivamente, em copioso pranto, para depois acordar e dar consigo banhada em lágrimas, escorrendo-lhe, ácidas, pelo rosto.
Pela manhã, a primeira coisa que ambas fizeram, tanto ela como Banford, foi saírem para ir ver o raposo. O rapaz colocara-o no barracão, pendurado pelas patas traseiras, a cauda inerte caída para trás. Era um belíssimo macho em pleno apogeu, revestido da sua magnífica pelagem de Inverno, espessa e farta, com uma bonita cor vermelho-dourada, tornando-se acinzentada ao passar para o ventre, este já de um branco alvíssimo. Na cauda, comprida e abundante, predominavam o preto e o cinzento, delicada amálgama que morria ao chegar à ponta, de um branco imaculado.
- Pobre animal! - disse Banford. - Se não fosse tão patifório, tão ladrão, era caso para ter pena dele.
March nada disse, quedando-se, absorta, com todo o seu peso assente num só pé, a anca saliente, o outro pé a arrastar, abandonado e indolente. As faces pálidas, abria os seus grandes olhos negros, como que hipnotizada pela visão do corpo morto do animal, suspenso de cabeça para baixo. Tinha o ventre tão branco, tão macio... Lembrava a branca alvura da neve, pensou ela. E passou-lhe docemente a mão por cima. A cauda, de um negro maravilhoso, resplandecente, era farta, roçagante, uma maravilha! E, passando-lhe também a mão por cima, sentiu-se estremecer. Repetidas vezes, mergulhou os dedos por entre a abundante pelagem da cauda, espessa e farta, percorrendo-a depois com a mão num lento movimento descendente. Que cauda maravilhosa, tão afilada e espessa, tão bela e resplandecente! E ei-lo ali morto! Os olhos escuros e ausentes, franziu a boca num esgar, os lábios contraídos. Depois, tomou então aquela cabeça nas mãos, quedando-se, absorta.
Henry andava por ali, de um lado para o outro, pelo que Banford acabou por se ir embora, virando-lhe ostensivamente as costas. March, com a cabeça do raposo nas mãos, ficou ao imóvel, mente perturbada e confusa. Estava pensativa, admirando aquele comprido focinho, alongado e esguio. Por qualquer razão, este lembrava-lhe uma colher ou uma espátula. E sentiu que semelhante coisa lhe era incompreensível. Para si, o animal era um bicho estranho, enigmático, fora da sua compreensão. E que belos bigodes prateados ele tinha, mais pareciam de gelo, quais finíssimas estalactites. As orelhas espetadas, cheias de pêlo por dentro, destacavam-se por sobre aquele comprido nariz de colher, delgado e esguio. Emergindo deste, viam-se uns dentes maravilhosamente brancos, lançados para a frente, dentes para abocanhar e morder, penetrando fundo nas entranhas da presa, dentes que despedaçavam, que rasgavam, que mordiam, dentes ávidos de sangue, ávidos de vida.
- É uma beleza, não é? - disse Henry, de pé, junto dela.
- Oh, sim! É um magnífico raposo! E bem grande! Ainda gostaria de saber de quantas galinhas deu ele cabo - retorquiu ela.
- De bastantes, estou certo. Pensa que será o mesmo raposo que viu no Verão?
- Acho que sim, que deve ser. Provavelmente é mesmo ele - volveu ela.
Ele observou-a, atento, sem contudo, chegar a qualquer conclusão. Em parte, ela parecia--lhe muito tímida, inexperiente, quase virginal, mas, por outro lado, revelava-se igualmente bastante austera, prosaica, azeda mesmo. Quando falava, aquilo que dizia dava--lhe sempre a sensação de não concordar com a sua enigmática expressão, destoando do que ressaltava dos seus grandes olhos negros.
- Vai esfolá-lo? - perguntou ela.
- Sim, depois de tomar o pequeno-almoço e de ir buscar uma tábua onde o possa pregar.
- Mas que cheiro tão forte que ele deita, palavra! PuahhL. Vou ter de lavar muito bem as mãos. Não sei que me deu para ser tão parva ao ponto de lhe pegar - disse então ela, olhando para a sua mão direita, aquela que antes passeara pelo ventre e pela cauda do animal, agora levemente manchada de sangue devido à marca escura que aquele tinha na pele.
- Já reparou como as galinhas ficaram tão assustadas mal o cheiraram? - perguntou ele.
- Sim, lá isso é verdade!
- Tenha cuidado não vá apanhar pulgas, olhe que ele está cheio delas!
- Oh! Pulgas!... - replicou ela com indiferença.
Nesse mesmo dia, veio mais tarde a ver a pele do raposo esticada e pregada numa tábua, dir-se-ia quase que crucificada. E sentiu um estranho mal-estar.
O rapaz continuava furioso. Andava por ali sem dizer palavra, de lábios cerrados, como se houvesse engolido parte dos queixos. Mas, como de costume, comportava-se de forma correcta, sempre cortês e afável. Não disse absolutamente nada sobre as suas intenções. E, além do mais, não abordou March o dia inteiro.
Naquela noite, deixaram-se estar na sala de jantar, pois Banford não queria voltar a vê-lo na sua salinha. Uma enorme acha ardia suavemente na lareira. Todos pareciam ocupados: Banford a escrever cartas, March a coser um vestido e ele a consertar qualquer pequeno utensílio. De tempos a tempos, Banford parava de escrever a fim de descansar os olhos, aproveitando então para dar uma olhadela em seu redor. O rapaz estava de cabeça baixa, debruçado sobre o seu trabalho, o rosto oculto entre os braços.
- Ora, vejamos! - disse Banford. - Qual o comboio em que pensa partir, Henry?
Ele levantou a cabeça, olhando de frente.
- No de amanhã de manhã - respondeu.
- Qual, no das oito e dez ou no das onze e vinte?
- No das onze e vinte, suponho eu - replicou ele.
- Mas isso é só depois de amanhã, não é? - disse Banford.
- Sim, é verdade, é só depois de amanhã.
- HummL. - murmurou Banford, voltando à sua escrita. Mas, na altura em que lambia conscienciosamente o envelope para depois o fechar, voltou a perguntar: - E quais são os seus planos para o futuro, se me permite a pergunta?
- Planos? - volveu ele, o rosto afogueado e colérico.
- Sim, sobre você e Nellie, se sempre vão por diante com as vossas intenções. Quando é que a boda terá lugar? - Falava num tom sarcástico, escarninho.
- Oh, a boda! - retorquiu ele. - Não sei.
- Mas não tem nenhuma ideia? - disse Banford. - Então você vai-se embora na sexta e deixa as coisas como estão?
- Bom, e porque não? Podemos sempre escrever-nos.
- E claro que sim. Mas eu gostava de saber por causa da quinta. É que, se a Nellie se vai casar assim de repente, vou ter de procurar outra sócia.
- Mas ela não poderia ficar aqui mesmo depois de casar? - perguntou ele, sabendo muito bem qual seria a resposta.
- Oh! - disse Banford. - Isto não é lugar para um casal. Primeiro, porque não há trabalho suficiente para ocupar um homem. E depois, o rendimento que isto dá é quase nulo. Não, é absolutamente impossível pensar em ficar aqui depois de casar. Absolutamente!
- Está bem, mas eu também não estava a pensar em ficar cá - respondeu ele.
- Óptimo, era isso mesmo que eu pretendia saber. E então a Nellie? Sendo assim, quanto tempo irá ela ficar aqui comigo?
Os dois antagonistas enfrentaram-se, olhos nos olhos.
- Isso já não lhe sei dizer - respondeu ele.
- Ora, vamos, deixe-se disso! - exclamou ela, desdenhosa e petulante. - Tem de ter uma ideia daquilo que pretende fazer, já que pediu uma mulher em casamento. A não ser que seja tudo conversa fiada.
- Conversa fiada? Porque havia de ser conversa fiada?... Penso voltar para o Canadá.
- E vai levá-la consigo?
- Evidentemente.
- Estás a ouvir isto, Nellie? - disse então Banford.
March, até aí de cabeça baixa sobre a costura, ergueu então o rosto, um acentuado rubor róseo nas faces pálidas, um riso estranho, sardónico, nos olhos negros, na boca franzida.
- E a primeira vez que ouço dizer que vou para o Canadá - disse.
- Bem, alguma vez tinha de ser a primeira, não é assim? - volveu o rapaz.
- Sim, suponho que sim - respondeu ela em tom de desprendido. E voltou à sua costura.
- Estás mesmo disosta a ir para o Canadá, Nellie? Achas que sim? - perguntou Banford.
March voltou a erguer os olhos.
E deixando descair os ombros, abandonando a mão no regaço, de agulha entre os dedos, respondeu:
- Depende do modo como tiver de ir. Não me parece que queira ir apertada numa terceira classe, como simples mulher de um soldado. - E acrescentou: - Receio não estar habituada a tais coisas.
O rapaz fitou-a de olhos brilhantes.
- Prefere então ficar por aqui enquanto eu vou à frente ver como correm as coisas? - inquiriu.
- Sim, se não houver outra alternativa - replicou ela.
- Assim é que é ter juízo. Não tomes qualquer compromisso definitivo, olha que é bem melhor - disse Banford. - Mantém-te livre para responderes sim ou não depois de ele ter voltado a dizer que já arranjou onde ficarem, Nellie. Qualquer outra atitude é uma loucura, uma loucura.
- Mas não acha - disse o jovem - que nos devíamos casar antes de eu partir?
Depois, conforme o caso, iriamos então juntos ou um primeiro e o outro depois.
- Acho que isso é uma péssima ideia! - exclamou Banford num grito.
Ela olhou em frente, os olhos errando, abstractos, pela sala.
- Bem, não sei - respondeu. - Vou ter de pensar nisso.
- Porquê? - pergroveitando a oportunidade para a fazer falar.
- Porquê? - repetiu ela. Repetira a pergunta em tom trocista, e, apesar do leve rubor que voltara a subir-lhe às faces, olhava para ele com um sorrido nos lábios. - Acho que há muitas e boas razoes para isso.
Ele observava-a em silencio. Sentiu que ela lhe escapava, que se conluiara com Banford contra ele. Lá estava de novo aquela estranha expressão, aqueles olhos sardónicos... E sabia que ela riria, trocista, de tudo aquilo que ele dissesse deste mundo de todo o género de vida que ele lhe oferecesse.
- É claro - disse então ele - que não tenciono obrigá-la a fazer nada contra vontade.
- Espero bem que não, ora essa! - exclamou Banford em ar indignado.
À hora de se irem deitar, Banford disse a March, na sua voz lamurienta:
- Levas-me a botija de água quente para cima, Nellie? Fazes-me esse favor?
- Sim, claro que sim - respondeu March, com aquela espécie de contrariada condescenda que tantas vezes revelava para com a sua querida e volúvel Jill.
As duas mulheres subiram então as escadas. Passado algum tempo, March disse lá de cima:
- Boa noite, Henry. Já não devo ir aí abaixo. Não se esqueça depois de apagar a luz e de tratar da lareira, está bem?
No outro dia, Henry apareceu de semblante carregado, um ar fechado no jovem rosto sombrio, dir-se-ia quase um menino amuado. Passou o tempo a cogitar, remoendo pensamentos sobre pensamentos. Teria gostado que March casasse com ele e o acompanhasse de volta ao Canadá. E, pelo menos até ali, sempre se convencera de que ela assim faria. Porque a queria, isso não sabia. Mas sabia que a queria. Desejava-a com um tal ardor que todo ele se contorcia de raiva ao saber-se contrariado. Na sua fúria juvenil, era para ele insuportável que o pudessem contrariar. Mas tinham--no contrariado... E isso era-lhe insuportável, absolutamente insuportável! Sentia-se possuído de uma tal fúria interior que nem sabia o que fazer. Mas optou por controlar-se, por refrear a sua raiva. Pois, apesar de tudo, as coisas ainda podiam vir a alterar-se. Ela ainda podia voltar para ele. E claro que sim. Tinha o dever de o fazer, era a sua obrigação. E tinha todo o direito, nada a podia impedir.
Lá para a tarde, o ambiente voltou a tornar--se bastante tenso. Ele e Banford tinham-se evitado durante todo o dia. De facto, Banford fora até à cidadezinha próxima no comboio das 11 e 20, pois era dia de mercado, devendo depois regressar no das 16 e 25. Quase ao cair da noite, Henry viu a sua figurinha esguia, vestida com um casaco azul-escuro e uma boina larga da mesma cor, a atravessar o prado vindo da estação. Deixou-se ficar onde estava, imóvel debaixo de uma pereira brava, a terra a seus pés juncada de folhas velhas e secas. E quedou-se a observar aquela figurinha azul que avançava tenazmente pelo prado inverniço, íngreme e escabroso. Tinha os braços cheios de embrulhos, pelo que avançava com grande lentidão, pequena e frágil como era, mas com aquela ponta de diabólica determinação que ele tanto detestava nela. Continuava oculto na sombra da pereira, quase invisível debaixo desta. E se os olhares pudessem tornar desejos em realidades, ela ver-se-ia tolhida por duas enormes grilhetas de ferro, rodeando-lhe os tornozelos à medida que avançava. "Não passas de um estuporzinho, essa é que é essa", murmurava ele entredentes através da distância. "Um estuporzinho, um reles estuporzinho. Espero que ainda venhas a pagar por todo o mal que me fizeste sem motivo algum. Espero bem que sim, meu grande estuporzinho. Espero que o venhas a pagar, e a pagar caro. E hás-de pagar, podes crer, se os desejos ainda têm algum valor. Meu estuporzinho, não passas de um estuporzinho asqueroso, é o que é."
Ela avançava com grande dificuldade, subindo lentamente a ladeira. Mas mesmo que ela escorregasse a cada passo, rolando por ali abaixo até um qualquer abismo insondável, ele não mexeria um dedo para a ajudar a transportar os embrulhos. Ah! Lá ia March, calcando a terra com o seu passo largo, de calções e casaquinho cintado! Descendo a colina a grandes passadas, dando mesmo algumas curtas corridas de quando em vez, toda embalada na sua grande solicitude e desejo de ir em socorro da sua pequenina Banford. O rapaz observava-a, furioso, o coração a transbordar de raiva. Vê-la a saltar valas, a correr que nem uma doida por ali abaixo como se a casa estivesse a arder, tudo isso só para ir ao encontro daquele objectozinho negro que rastejava colina acima! Assim, Banford parou, à espera que ela lá chegasse. E March, uma vez lá, pegou em todos os embrulhos, excepto num ramo de crisântemos amarelos. Eis tudo quanto Banford carregava agora, um ramo de crisântemos amarelos!
"Sim, ficas muito bem assim, não há dúvida", murmurou ele baixinho na penumbra do entardecer. "Ficas muito bem assim, para aí feita parva agarrada a um ramo de flores, lá isso ficas! Se gostas assim tanto de flores, toda abraçada a elas como vens, faço-tas para o chá, está descansada. E volto a dar-tas ao pequeno-almoço, aí volto, volto! Vou passar a dar-te flores, só flores e nada mais."
E quedou-se a observar a marcha das duas mulheres. Podia agora ouvir-lhes as vozes. March, franca como sempre, pondo um leve tom de repreensão na ternura da voz, Banford falando baixinho, como que a murmurar, de forma algo vaga e abstracta. Eram, evidentemente, duas boas amigas. Não conseguiu distinguir aquilo que diziam enquanto não chegaram junto da vedação que delimitava o prado adjacente à casa. Uma vez lá chegadas, viu então March transpor a cancela no seu jeito varonil, segurando todos os embrulhos nos braços, enquanto a voz rabugenta de Banford soava no ar parado:
- Porque é que não me deixas ajudar-te a levar os embrulhos? - Havia na sua voz um estranho tom de queixume, embargando-lhe as palavras. Ouviu-se então a voz de March, firme e sonora, respondendo com negligência:
- Oh, eu cá me arranjo. Não te preocupes. Tu é que tens de recuperar as forças, cansada como vens.
- Sim, isso é muito bonito - retrucou Banford, agastada. - Tu estás sempre a dizer "Não te preocupes" e depois passas o tempo toda ofendida porque ninguém te dá atenção.
- Mas quando é que andei ofendida? - perguntou March.
- Sempre. Andas sempre ofendida. Por exemplo, agora estás ofendida comigo por eu não querer que aquele rapaz venha viver cá para a quinta.
- Isso não é verdade, não estou nada ofendida - replicou March.
- Estás, que eu bem sei que estás. Quando ele se for embora, vais andar toda amuada por causa disso, tenho a certeza.
- Ah, sim? - volveu March. - Bom, veremos.
- Sim, infelizmente eu bem sei que vai ser assim. E dói-me pensar como tu te deixaste apanhar com tanta facilidade. Não posso imaginar como te podes ter rebaixado a esse ponto.
- Eu não me rebaixei coisíssima nenhuma - respondeu March.
- Então não sei que nome lhe dás. Deixar um rapaz como aquele, tão insolente e descarado, fazer de ti uma parva. Realmente não sei que ideia fazes tu de ti. Ou julgas que ele vai ter algum respeito por ti depois de te ter apanhado? Palavra que não gostaria nada de te estar na pele se casares com ele, pois não vai ser nada fácil descalçar essa bota.
- E claro que não gostarias. Aliás, as minhas botas são demasiado grandes para ti, além de não terem metade da elegância das tuas - disse March com mal disfarçado sarcasmo, arrependendo-se de seguida.
- Sempre pensei que fosses muito mais orgulhosa, palavra que sim. Uma mulher tem de se impor, tem de se fazer valer, especialmente tratando-se de um fulano como aquele. Porquê?... Porque ele é demasiado atrevido, eis porquê. Até mesmo na forma como se nos impôs logo de início.
- Nós é que lhe pedimos para ficar - objectou March.
- Mas só depois de ele quase nos ter obrigado a isso. E ele é tão arrogante e autocon-vencido. Meu Deus, como ele me irrita! Deixa--me sempre os nervos em franja, de tão insolente e provocador. E é-me simplesmente impossível perceber como é que tu podes permitir que ele te trate de uma forma tão reles.
- Isso não é verdade, eu não deixo que ele me trate de uma forma reles - respondeu March. - Não te preocupes com isso, nunca ninguém me tratará de uma forma reles. Nem mesmo tu, fica sabendo. - Havia um certo calor na sua voz, misto de ternura e desafio.
- Pois é, eu já sabia que ia acabar por pagar as favas - disse Banford amargamente. - É sempre assim, sou sempre eu quem leva com as culpas. Tenho a impressão que o fazes de propósito para me magoar.
Avançavam agora em silêncio, subindo a ladeira íngreme e ervosa. Ultrapassado o cume, continuaram depois por entre as urzes e o tojo. Do outro lado da sebe atrás da qual se ocultava, o rapaz seguia-as a curta distância, perdido nas sombras do crepúsculo. De vez em quando, através da enorme sebe de velhos espinheiros, altos como árvores, ele entrevia as duas figuras escuras a treparem colina acima. Ao chegar ao cimo da ladeira, viu a casa envolta nas sombras do crepúsculo, com uma velha e grossa pereira quase encostada à empena mais próxima e uma pequenina luz amarelada tremulando nas janelinhas laterais da cozinha. Ouviu depois o ruído do trinco correndo no ferrolho e viu a porta da cozinha a abrir-se, banhada em luz, quando as duas mulheres entraram. Portanto, já estavam em casa.
E com que então era isso que pensavam dele! Ele era uma espécie de ouvinte por natureza, sempre à escuta, de ouvido pronto, portanto, nunca ficava surpreendido com o que quer que ouvisse. Aquilo que as pessoas pudessem dizer a seu respeito nunca o afectava, pois, pessoalmente, isso era-lhe indiferente. Só se sentia bastante surpreendido com o modo como as mulheres se tratavam uma à outra. E detestava Banford com um ódio feroz, ao mesmo tempo que voltava a sentir--se atraído por March. Mais uma vez, algo dentro de si o impelia irresistivelmente para ela. Sentia haver um elo entre eles, um vínculo secreto a uni-los, algo de tão íntimo e reservado que excluía quaisquer terceiros, fazendo com que eles se possuíssem secretamente um ao outro.
E voltou a acreditar que ela acabaria por aceitá-lo. O sangue subitamente inflamado, acreditou que ela concordaria em casar com ele a breve trecho, muito provavelmente pelo Natal. Sim, pois o Natal já não vinha longe. Aquilo que ele desejava, fosse qual fosse a sequência, era conseguir levá-la a um casamento apressado e à sua efectiva consumação. Então, quanto ao futuro, isso depois se veria. Aquilo que desejava era que tudo acontecesse de acordo com os seus planos. Assim, naquela noite, esperava que ela aceitasse ficar a sós com ele depois de Banford ter subido para se ir deitar. Desejava poder tocar as suas faces suaves, cremosas, o seu rosto estranho, assustado. Desejava olhar de perto os seus grandes olhos negros, ler-lhe o temor nas pupilas dilatadas. E desejava mesmo poder pousar-lhe a mão no peito, sentir-lhe os seios macios sob o casaco. Só de pensar nisso, o coração batia-lhe com mais força, pulsando rápido e descompassado, tão grande era o seu desejo de o fazer. Queria certificar-se de que por baixo daquele casaco havia mesmo uns seios de mulher, suaves e macios. Pois ela andava sempre com aquele casaco de fazenda castanha tão hermeticamente abotoado até ao pescoço!
E parecia-lhe a ele que aqueles suaves seios de mulher, andando sempre aferrolhados dentro daquele uniforme, tinham em si algo de perigoso, de secreto. Além do mais, tinha a impressão de que eles deveriam ser muito mais suaves e macios, muito mais belos e adoráveis, encerrados assim naquele casaco, do que o seriam os seios de Banford, ocultos por baixo das suas blusas finas e dos seus vestidos de gaze. Banford tinha certamente uns seios pequenos e rijos, de uma dureza férrea, pensava ele para consigo. Pois, apesar de toda a sua fragilidade, hipersensibilidade e delicadeza, os seus seios deveriam ser duas pequeninas bolas de ferro, ao passo que March, debaixo do seu casaco de trabalho, rijo e grosseiro, teria certamente uns seios brancos e macios, de uma alvura, de uma suavidade por desvendar. E, enquanto assim pensava, sentia o sangue ferver-lhe nas veias, correndo, esbraseado, em frenética galopada.
Quando por fim, chegada a hora do chá, se decidiu a entrar, esperava-o uma surpresa. Surgindo à entrada da porta, já do lado de dentro, os olhos azuis brilhando-lhe, luminosos, no rosto vermelho e vivo, a cabeça ligeiramente descaída para a frente como era seu hábito, deteve-se ao entrar, hesitando um pouco no limiar da porta para observar o interior da sala, atento e cauteloso como sempre, antes de avançar. Trazia vestido um colete de mangas compridas. O seu rosto, qual baga de azevinho, assemelhava-se extraordinariamente a um qualquer elemento exterior que, de repente, ali tivesse irrompido, como se parte do mundo de lá de fora penetrasse portas adentro como um intruso. Nos escassos segundos em que se quedou, hesitante, à entrada da porta, apercebendo-se das duas mulheres sentadas à mesa, cada uma em sua ponta, observando-as então com olhos agudos e penetrantes. E, para seu grande espanto, verificou que March estava com um vestido de crepe de seda verde-escuro. Ficou boquiaberto, tal foi a surpresa. Ele não ficaria mais surpreendido se ela porventura aparecesse subitamente de bigode.
- Mas então - disse ele - afinal também usa vestidos?
Ela ergueu os olhos, duas fundas manchas róseas nas faces ruborizadas, e, franzindo a boca num sorriso, respondeu:
- É claro que sim. Que outra coisa esperava que eu usasse senão um vestido?
- Bom, um traje de rapariga do campo, é evidente - retorquiu ele.
- Oh! -- exclamou ela num tom de indiferença. - Isso é só para este sujo e imundo trabalho cá da quinta.
- Então não é esse o seu traje vulgar? - indagou ele.
- Não, pelo menos para trazer por casa - volveu ela. Mas não deixou de corar enquanto lhe servia o chá. Ele sentou-se à mesa, puxando a sua cadeira do costume, totalmente incapaz de desviar os olhos daquela figura. O vestido era um vestido inteiro, muito simples, de crepe azul esverdeado, com uma tira dourada cosida à volta da gola e outra a debruar as mangas. Era um vestido de mangas curtas, não passando do cotovelo, de corte direito, muito sóbrio, com uma gola redonda que deixava ver o seu pescoço alvo e macio. Os braços, fortes e musculados, de músculos firmes e bem feitos, já ele conhecia, pois vira-a muitas vezes de mangas arregaçadas. Contudo, ele olhava-a como que hipnotizado, mirando-a e remirando-a da cabeça aos pés.
Banford, sentada na outra ponta da mesa, não dizia palavra, mas manifestava o seu nervosismo na forma ruidosa como virava e revirava a sardinha que tinha no prato. Mas ele esquecera-se totalmente da sua existência, quedando-se, embasbacado, a olhar para March enquanto ia comendo o seu pão com margarina a grandes dentadas, sem sequer ligar ao chá já quase frio.
- Bem, nunca vi nada que mudasse assim tanto uma pessoa! - murmurou entre duas dentadas.
- Oh, meu Deus! - exclamou March, cada vez mais ruborizada. - Devo estar com um ar de bicho do outro mundo!
E, levantando-se rapidamente, pegou no bule e levou-o para a cozinha, voltando a pôr a chaleira ao lume. E quando ela se debruçou sobre a lareira, agachando-se, com o seu vestido verde colado ao corpo, o rapaz contemplou-a com olhos ainda mais esbugalhados do que antes. Através do crepe, as suas formas de mulher pareciam agora suaves e femininas. Ao voltar a erguer-se, dando alguns passos na cozinha, ele viu-lhe as pernas gráceis movendo-se, suaves, sob a saia curta cortada à moda. Calçara umas meias de seda preta e uns sapatinhos de verniz com graciosas fivelas douradas.
Não, não podia ser a mesma pessoa. Estava mudada, parecia-lhe alguém totalmente diferente. Acostumado a vê-la sempre vestida com os seus pesados calções, largos e folgados nas ancas, apertados nos joelhos, maciços como uma couraça, com umas grevas castanhas e pesadas botas, nunca lhe ocorrera que ela tivesse pernas e pés de mulher. E, de repente, vendo-lhe as pernas finas moldadas pela saia, dava-se conta disso, apercebia-se do seu ar feminino, acessível. Sentindo-se corar até à raiz dos cabelos, enfiou o nariz na chávena e sorveu o chá algo ruidosamente, facto que fez com que Banford se remexesse toda na cadeira. E, de súbito, algo de estranho sucedeu: sentiu-se um homem, já não um jovem mas sim um homem, um homem adulto, maduro. Sentiu-se um homem com todo o peso das graves responsabilidades do homem adulto. E uma estranha calma, uma espécie de gravidade abateu-se sobre ele, invadindo-lhe o espírito, dominando-lhe a mente. Sentiu-se um homem, calmo e tranquilo, a alma algo opressa pelo peso do seu destino de macho.
Suave e acessível no seu vestido... Este pensamento dominou-o com a força avassaladora de uma nova responsabilidade, de uma responsabilidade para sempre presente.
- Oh, por amor de Deus! Digam alguma coisa, não estejam assim tão calados! - explodiu Banford, enervada e indisposta. - Isto mais parece um funeral. - O rapaz olhou então para ela. Incapaz de suportar aquele rosto, ela viu-se obrigada a desviar a cabeça.
- Um funeral! - exclamou March, crispando a boca num sorriso. - Oh, isso vai ao encontro do meu sonho!
Viera-lhe subitamente à ideia a visão de Banford jazendo na caixa de madeira por único caixão.
- Porquê, estiveste a sonhar com um casamento? - disse Banford, com ácido sarcasmo.
- Sim, se calhar estive - respondeu March.
- Qual casamento? - perguntou o rapaz.
- Já não me lembro - retorquiu March.
Estava tímida e pouco à vontade naquela tarde, pois, apesar de usar um vestido, tinha um comportamento muito mais comedido do que com o seu uniforme de trabalho. Sentia-se desprotegida e algo exposta, quase imprópria, obscena mesmo, para ali vestida daquela forma.
Falaram então muito por alto da partida de Henry, marcada para a manhã seguinte, conversando de forma vaga e desinteressada, posto o que foram tratar dos habituais preparativos. Mas nenhum ousou falar daquilo que realmente lhe ia no espírito, mostrando-se bastante calmos e amigáveis durante toda a tarde. Banford praticamente não abriu a boca, apesar de lá por dentro se sentir tranquila, quase amável até.
Às nove horas, March trouxe o tabuleiro com o sempiterno chá e um pouco de carnes frias que Banford lá conseguira arranjar. Sendo esta a última ceia, Banford procurava não ser desagradável. Até sentia uma certa pena do rapaz, achando-se na obrigação de ser tão gentil quanto possível.
Quanto a ele, o seu maior desejo era que ela se fosse deitar, no que, por via de regra, era sempre a primeira. Mas ela deixou-se ficar sentada na cadeira, sob a luz do candeeiro, relanceando os olhos pelo livro de quando em vez e vigiando o lume. Pairava agora na sala uma profunda quietude. Então, em voz um tanto abafada March decidiu-se a quebrar o silêncio, perguntando a Banford:
- Que horas são, Jill?
- Dez e cinco - respondeu esta, olhando o relógio de pulso.
Depois, nada mais. De novo o silêncio. O rapaz erguera os olhos do livro preso entre os joelhos. Tinha no rosto largo e algo felino um ar de muda obstinação, nos olhos atentos e vivos a insistência da espera.
- E que tal ir para a cama? - disse finalmente March.
- Quando quiseres, estou pronta - volveu Banford.
- Oh, muito bem - disse March. - Vou arranjar-te a botija.
E assim fez. Uma vez preparada a botija de água quente, acendeu uma vela e levou a botija para cima. Banford deixou-se estar sentada, atenta ao menor ruído. Depois, reaparecendo ao cimo das escadas, March voltou a descer.
- Pronto, já está - disse então. - Não vais para cima?
- Sim, é só um minuto - respondeu Banford. Mas os minutos foram passando e ela continuou sentada na cadeira sob a luz do candeeiro.
Henry, cujos olhos, espreitando, observadores, de sob as sobrancelhas, brilhavam como os de um gato, o rosto parecendo cada vez mais largo e arredondado nos seus contornos felinos, na sua inalterada obstinação, ergueu--se então a fim de tentar a sua cartada.
- Acho que vou até lá fora ver se descubro a fêmea daquele raposo - disse. - Pode ser que ande por aí a rondar. Não quer vir também, Nellie, a ver se vemos alguma coisa? É só um minuto...
- Eu?! - exclamou March, erguendo os olhos para ele, um ar simultaneamente perplexo e interrogativo no rosto surpreso.
- Sim, você. Venha daí, vá... - insistiu ele. Era espantoso como a sua voz podia parecer tão quente, tão persuasiva, como podia tornar-se tão suave e insinuante. Ao ouvi-la, Banford sentiu o sangue ferver-lhe, o eco daquele som escaldando-lhe as veias.
- Venha, é só um minuto - teimou ele, baixando os olhos para ela, para aquele rosto erguido, pálido e inseguro.
E então, como que atraída pela força magnética daquele rosto jovem e corado que a olhava com insistente fixidez, ela acabou por se pôr de pé.
- Nunca pensei que alguma vez te atrevesses a sair a esta hora da noite, Nellie! - gritou Banford.
- Não faz mal, é só por um minuto - disse o rapaz, voltando os olhos para ela e falan-do-lhe num estranho tom de voz, quase que num uivo, agudo e sibilante.
March olhava ora para um ora para outro, parecendo abstracta e confusa. Banford levantou-se então por sua vez, preparando-se para a luta.
- Ora esta, mas isso é ridículo! Está um frio de rachar! Tu ainda acabas por morrer gelada com esse vestido tão fino. E ainda por cima com esses sapatecos que não aquecem nada. Não te admito que faças uma coisa dessas, ouviste?
Houve uma pequena pausa. Banford, toda encrespada, mais parecia um galo de briga, fazendo frente a March e ao rapaz.
- Oh, não acho que tenha de se preocupar - retorquiu ele. - Uns instantes ao relento nunca fizeram mal a ninguém. Vou buscar a manta que está em cima do sofá da sala de jantar. Vamos andando, Nellie?
Havia na sua voz tanta raiva, desprezo e fúria quando falava com Banford quanto de ternura e orgulhosa autoridade ao dirigir-se a March. Então esta disse:
- Sim, vamos andando.
E, virando costas, dirigiu-se com ele para a porta.
Banford, de pé no meio da sala, irrompeu de súbito em grande pranto, gritando e soluçando convulsivamente, o corpo sacudido por espasmos. Cobrindo o rosto com as suas pobres mãos, finas e delicadas, os ombros magros agitados por um tremor agónico, chorava desabaladamente. Já a chegar à porta, March olhou então para trás.
- Jill! - gritou ela fora de si, num tom desvairado, como alguém que desperta de repente. E deu a impressão de querer correr para junto da sua querida amiga.
Mas o rapaz tinha o braço de March bem sujeito sob a sua mão jovem e forte, pelo que ela não pôde dar um passo. E não sabia porque é que lhe era impossível mover-se. Tudo se passava como num sonho, quando o coração tenta empurrar o corpo para diante mas este é incapaz de se mover.
- Deixa estar - disse o rapaz com brandura. - Deixa-a chorar. Deixa-a chorar que é melhor. Mais tarde ou mais cedo, teria sempre de acabar por chorar. E as lágrimas ajudá-la--ão, aliviar-lhe-ão os sofrimentos. Só lhe podem fazer bem, podes crer.
Assim, arrastou March lentamente até à porta, obrigando-a a avançar. Mas não pôde impedi-la de lançar um último olhar para a pobre figurinha que ali ficava, de pé, no meio do quarto, o rosto entre as mãos, os ombros magros sacudidos por espasmos, chorando amargamente.
Ao chegarem à sala de jantar, ele agarrou na manta e disse-lhe:
- Vá, embrulha-te nisto.
Ela obedeceu e continuaram a avançar até atingirem a porta da cozinha, com ele sempre a segurá-la pelo braço, com ternura e firmeza, ainda que ele nem sequer se desse conta disso. Mas, ao ver a noite lá fora, teve um súbito movimento de recuo.
- Eu tenho de ir ter com a Jill! - exclamou, então. - Tenho, tenho! Tenho, sim, tenho!
O seu tom era peremptório. O rapaz soltou--lhe então o braço e ela voltou-se para dentro. Mas, voltando a agarrá-la, ele impediu-a de avançar.
- Espera um minuto - disse. - Espera um minuto. Mesmo que tenhas de ir, não vás ainda.
- Deixa-me! Deixa-me! - gritou ela. - O meu lugar é ao lado da Jill! Pobre pequenina, pobre querida, os seus soluços são de cortar o coração!
- Sim - disse o rapaz amargamente. - Cortam o coração, isso é verdade. O dela, o teu e também o meu.
- O teu coração? - perguntou March. Ele continuava a segurá-la pelo braço, impedindo-a de avançar.
- Sim, ou será que o meu coração não vale o dela? - respondeu ele. - Achas que não, é?
- O teu coração? - repetiu ela, incrédula.
- Sim, o meu, o meu coração! Ou julgas que não tenho coração? - E, agarrando-lhe a mão com fervor, num caloroso amplexo, comprimiu-a de encontro ao peito, levando-a até ao lado esquerdo. - Aí tens o meu coração - disse -, já que pareces não acreditar nele.
Foi o espanto que a fez ficar, prendendo-a ali. E sentiu então o poderoso bater do coração dele, forte e profundo, tão terrível como algo vindo do além. Sim, assemelhava-se a algo vindo dos abismos do além, a algo de medonho saído do outro mundo, a algo que a chamava, que a atraía irremediavelmente. E um tal apelo paralisou-a, invadindo-lhe o espírito, ecoando-lhe na alma, deixando-a fraca e indefesa. De imediato, esqueceu Jill. Pensar em Jill era-lhe doravante impossível. Não, não podia pensar nela. Sentia-se tão aturdida, tão confusa... Oh, aquele terrível apelo do exterior, aquele apelo do além!...
O rapaz enlaçou-a pela cintura, puxando-a ternamente para si.
- Vem comigo - disse com extrema suavidade. - Vem... Deixa que digamos um ao outro aquilo que temos para dizer.
E, arrastando-a para fora, fechou a porta atrás de si. Ela acompanhou-o então através da escuridão, seguindo pelo caminho do quintal, totalmente dominada pelo seu fascínio, pelo seu mistério. Logo havia ele de ter um coração que pulsasse daquela maneira! E logo havia de lhe ter posto a mão à volta da cintura, ainda por cima por debaixo da manta! Sentia-se demasiado confusa para pensar em quem ele era ou no que ele era.
Ele levou-a para dentro do barracão, puxando-a para um canto escuro onde havia um caixote de ferramentas com uma tampa, comprido e baixo.
- Sentemo-nos aqui um instante - disse então ele.
Obedientemente, ela sentou-se a seu lado.
- Dá-me a tua mão - continuou ele.
Ela deu-lhe ambas as mãos e ele tomou-as entre as suas. Jovem como era, sentiu-se estremecer.
- Casas comigo, não casas? Casas comigo antes de eu partir, não é verdade? - rogou ele.
- Porque não? Ao fim e ao cabo, não somos ambos um par de loucos? - respondeu ela.
Ele levara-a para aquele canto a fim de que ela não visse a janela iluminada sempre que olhasse para a casa através da escuridão do pátio e do quintal. Procurava mantê-la totalmente desligada do exterior, sozinha com ele ali dentro do barracão.
- Mas em que sentido é que somos um par de loucos? - perguntou ele. - Se quiseres voltar comigo para o Canadá, tenho um emprego e um bom salário à minha espera, além de que é um lugar calmo e agradável, perto das montanhas. E porque não casarás tu comigo? Sim, porque não havemos nós de nos casar? Gostaria muito de te ter lá comigo. Gostaria de saber que tinha alguém, alguém com quem me preocupar, alguém com quem pudesse viver o resto da minha vida.
- Mas ser-te-á fácil arranjar outra, outra que te convenha mais - objectou ela.
- Sim, isso é verdade, ser-me-ia fácil arranjar outra rapariga. Eu sei que sim. Mas nenhuma que eu realmente desejasse. Nunca encontrei nenhuma com quem realmente desejasse viver para sempre. Estás a ver, estou a pensar numa união para toda a vida. Se me casar, quero sentir que isso será para toda a vida. Quanto às outras raparigas... Bom, são apenas raparigas, boas para conversar e passear uma vez por outra, nada mais. Digamos, boas para passar um bom bocado, uns momentos de prazer. Mas quando penso na minha vida, então tenho a certeza de que ficaria bastante arrependida se tivesse de me casar com qualquer delas, disso não tenho dúvidas.
- Queres dizer que elas não dariam uma boa esposa?
- Sim, é isso. Ou antes, não é bem isso... Não digo que não cumprissem com seus deveres para comigo, o que eu quero dizer é que... Bom, a verdade é que não sei o que quero dizer. Só sei que, quando penso na minha vida e em ti, então as duas coisas combinam perfeitamente.
- E se não combinassem? - perguntou ela naquele seu tom estranho, algo sarcástico.
- Bem, eu acho que combinam. Deixaram-se então ficar calados durante algum tempo, ali sentados nas trevas do barracão. Desde que se apercebera de que ela era uma mulher, vulnerável e acessível, sentira-se tomado de uma estranha sensação, o espírito opresso e pesado. Não tinha a menor intenção de a possuir, antes pelo contrário. Estremecia à ideia de uma tal proeza, quase que amedrontado. Ela era uma mulher, finalmente vulnerável e acessível ao seu assédio, mas ele evitava antecipar aquilo que o futuro lhe poderia trazer, quase como se isso o apavorasse. Pois este surgia-lhe à semelhança de uma zona de trevas onde sabia que teria de entrar um dia, mas na qual, pelo menos para já, nem sequer queria pensar. Até porque ela era mulher e ele sentia-se responsável pela estranha vulnerabilidade que subitamente descobrira nela.
- Não - disse ela por fim. - Sou uma idiota, é o que é. Disso não restam dúvidas, sou mesmo uma idiota.
- Mas porquê? - perguntou ele.
- Por aceitar continuar com uma conversa destas.
- Referes-te a mim, é isso? - indagou ele.
- Não, refiro-me a mim. Aquilo que estou a fazer é uma asneira, uma rematada asneira.
- Mas porquê? Será porque realmente não queres casar comigo?
- Oh, não é isso. E que, na verdade, não sei se sou contra ou a favor de uma tal ideia, só isso. Não sei, realmente, não sei.
Ele olhou-a através das trevas, perplexo e confuso. Não fazia a menor ideia do que ela pretendia dizer com aquilo.
- E também não sabes se gostas ou não de estar agora aqui sentada ao pé de mim? - perguntou então.
- Não, realmente não sei. Não sei se gostaria de estar noutro lado ou se prefiro estar aqui. Não sei, realmente não sei.
- Gostarias de estar ao pé de Miss Banford? Gostarias de ir para a cama com ela, é isso? - perguntou ele, em tom de desafio.
Ela quedou-se longo tempo silenciosa antes de responder.
- Não - disse por fim. - Não gostaria.
- E achas que gostarias de passar toda a vida ao pé dela? De ficar com ela até estares velha e de cabelos brancos? - continuou ele.
- Não - respondeu ela sem grandes hesitações. - Não me estou a imaginar a mim e à Jill, duas velhas, a vivermos juntas.
- E não achas que quando eu for velho e tu também já fores velha poderemos ainda estar juntos, juntos como agora estamos? - perguntou então ele.
- Bom, não como agora estamos - volveu ela. - Mas acho que posso imaginar... Não, não posso. Não consigo imaginar-te velho. Além de que isso é horrível!
- O quê, ser velho?
- Sim, é claro.
- Não na devida altura - retorquiu ele. - Mas isso ainda vem longe. Há-de chegar, é claro, mas quando chegar gostaria de pensar que também tu lá estarás, que teremos envelhecido os dois juntos.
- Como dois velhos aposentados num asilo de terceira idade - disse então ela secamente.
Aquela espécie de humor disparatado que ela tinha deixava-o sempre espantado. Nunca percebia muito bem aquilo que ela queria dizer. Provavelmente, nem ela mesma o sabia.
- Não - respondeu ele, chocado.
- Não percebo porque estás para aí a repisar isso da velhice - disse ela então. - Ainda não tenho noventa anos, que eu saiba.
- E alguém disse que os tinhas, por acaso? - replicou ele, ofendido.
Virando a cara, ficaram então calados por algum tempo, entregues aos seus pensamentos.
- Não gosto que faças pouco de mim - disse então ele.
- Ah, não? - volveu ela, num tom enigmático.
- Não, porque neste momento eu estou a falar a sério. E quando estou a falar a sério não gosto de brincadeiras.
- Queres dizer que ninguém deve fazer troça de ti - retorquiu ela.
- Sim, é isso. E também significa que eu próprio não estou disposto a brincar. Quando me acontece estar sério é assim, não gosto de brincadeiras ou de troças.
Ela ficou silenciosa por alguns instantes.
Depois, numa voz vaga, abstracta, algo dolorida mesmo, disse então:
- Não, não estou a fazer pouco de ti.
Ele sentiu-se como que tomado por uma onda de calor, o coração pulsando-lhe rápido e quente.
- Então acreditas em mim, não é verdade? - perguntou.
- Sim, acredito em ti - replicou ela, numa voz onde ressaltava algo do seu velho cansaço, da sua habitual indiferença, como se só cedesse por já estar cansada e farta. Mas ele não se importou, só dando ouvidos ao entusiasmo que lhe ia no coração, inflamado e jubiloso.
- Concordas então em casar comigo antes de eu partir, digamos, lá pelo Natal? Concordas?...
- Sim, concordo.
- Óptimo! - exclamou ele. - Então está combinado.
E deixou-se estar sentado em silêncio, quase que inconsciente, o sangue fervendo-lhe nas veias, correndo, escaldante, num estontea-mento de vertigem, pulsando, frenético, num formigar alucinado, todas as suas fibras em fogo, nervos, dobras, circunvoluções. Limitou-se tão-só a apertar-lhe ainda mais as mãos de encontro ao peito, quase sem dar por isso. Quando esta curiosa paixão começou, finalmente, a acalmar, pareceu então despertar para o mundo.
- Seria melhor irmos andando, não achas? - perguntou, como se só então desse conta do frio que estava.
Ela levantou-se sem dizer palavra.
- Beija-me antes de irmos para dentro, agora que disseste que sim - pediu ele.
E beijou-a suavemente na boca com um beijo tímido e rápido, um beijo de jovem assustado. E este fê-la também sentir-se mais jovem, deixando-a assustada e maravilhada ao mesmo tempo, algo cansada também, muito, muito cansada, quase como se se sentisse prestes a adormecer.
Foram então para dentro. E lá estava Ban-ford na sala de estar, agachada junto ao fogo como se fosse uma bruxa, uma estranha bruxinha pequena e mirrada. Ao entrarem, ela olhou em volta com uns olhos avermelhados, mas não se levantou. E ele pensou que ela tinha um ar assustador, sobrenatural, para ali demoníaco, fez uma figa com os dedos.
Banford reparou no rosto corado e jubiloso do jovem, parecendo-lhe que ele estava estranhamente alto, com um ar luminoso, inebriado. E no rosto de March havia uma curiosa expressão, delicada, suave, quase como que um halo, diáfano e leve. Porém, ela desejava poder ocultá-lo, encobri-lo, não deixar que ninguém o visse.
- Até que enfim que chegaram - disse Banford com rudeza.
- Sim, já chegamos - respondeu ele.
- Por algum motivo se demoraram tanto - volveu ela.
- Sim, lá isso é verdade. Já ficou tudo combinado. Vamos casar o mais depressa possível - replicou ele.
- Oh, com que então já está tudo combinado, hem!... Bem, espero que não venham depois a arrepender-se - disse Banford.
- Assim espero - retorquiu ele.
- Vais agora para a cama, Nellie? - perguntou então Banford.
- Sim, vou já.
- Então, por amor de Deus, vem daí! March olhou para o rapaz. Ele observou-a E ela a Banford, os olhos muito vivos e brilhantes no rosto radioso. March deitou-lhe um olhar ansioso, significativo. Gostaria de poder ficar ao pé dele. Gostaria de já se ter casado com ele, de que tudo já fosse um facto consumado. Pois sentia-se subitamente tão segura ao lado dele!... Oh, tão, tão segura!... Sentia-se tão estranhamente segura na sua presença, tão calma, tão tranquila!... Se ao menos pudesse dormir sob a sua protecção, se não tivesse de ir para cima com Jill... Sentia-se agora com medo de Jill. Naquele seu estado de semi-inconsciência, de terna lassidão e abandono, era para si uma agonia ter de subir com Jill, de se ir deitar com ela. E desejava que o rapaz a salvasse. Voltou então a olhá-lo, quase suplicante.
E ele, fitando-a com os seus olhos brilhantes, pareceu adivinhar algo do que lhe ia no espírito. Sentiu-se então angustiado e confuso por ela ter de ir com Jill.
- Não me vou esquecer do que me prometeste - disse, olhando-a bem nos olhos, mergulhando fundo dentro daqueles olhos tristes, assustados, de tal modo que dava a impressão de a abarcar por inteiro, de a envolver de corpo e alma no seu estranho olhar cintilante.
Então, ela sorriu-lhe, um ar lânguido e terno no rosto agora calmo. Voltava a sentir-se segura, segura com ele.
Mas, apesar de todas as precauções do rapaz, veio a deparar-se-lhe um sério revés. Na manhã da sua partida da quinta, convenceu March a acompanhá-lo até à cidade mais próxima, a cerca de oito milhas1 dali, em cujo mercado elas se costumavam abastecer. Uma vez aí, foram ao registo civil tratar dos banhos, declarando que desejavam casar-se. Ele estaria de volta por ocasião do Natal, pelo que o casamento deveria realizar-se por essa altura. Lá pela Primavera, esperava já poder levar March consigo para o Canadá, uma vez que a guerra tinha acabado de vez. Ainda que muito jovem, pusera já algum dinheiro de parte.
- Se possível, deve-se ter sempre algum dinheiro de reserva - declarou ele então.
Assim, ela viu-o partir no comboio que ia para oeste, pois o seu aquartelamento ficava na planície de Salisbury. Viu-o partir com os seus grandes olhos negros muito abertos, tendo a sensação de que, à medida que o comboio se afastava, parte da realidade da vida se afastava com ele, realidade representada por aquele rosto estranho, corado e bochechudo, por aquelas faces largas, por aquela expressão sempre imutada, excepto quando ensombrada pela fúria, pela ira dos sobrolhos carregados, pelos olhos extáticos, vivos e brilhantes, obsessivamente fixos numa estranha imobilidade. Era isto que agora acontecia. Debruçado da janela da carruagem enquanto o comboio se punha em andamento, lá estava ele a dizer--lhe adeus e a fitá-la de olhos fixos, uma expressão inalterada no rosto parado, nos músculos imóveis. Não havia qualquer emoção naquele rosto estático. Apenas os olhos se estreitaram num olhar fixo, intencional, quase como os de um gato ao deparar subitamente com algo que o faz estancar. Assim, os olhos do rapaz quedaram-se fixos e extáticos enquanto o comboio se afastava, deixando-a para trás com uma intensa sensação de solidão e abandono. Na falta da sua presença física, parecia-lhe que já nada restava dele, que ficava absolutamente vazia, sem nada de nada. Tão-só o seu rosto lhe ficara gravado na memória: as faces cheias, coradas, a expressão imutável, estática, o nariz comprido e rectilíneo, os olhos fixos que o encimavam. Tudo aquilo de que se lembrava era do modo como ele ria, franzindo cómica e subitamente o nariz, tal como um cachorrinho quando se põe a rosnar na brincadeira. Mas dele, de si próprio e daquilo que ele era, nada sabia, pois nada ficara dele no momento em que a deixou.
Nove dias depois de ter partido, eis que ele recebe a seguinte carta:
"CARO HENRY:
Tenho pensado muito no assunto, recapitulando tudo vezes sem conta, e parece-me agora que não há futuro para nós os dois, que é perfeitamente impossível pensarmos em ir por diante com uma tal aventura. Quando cá não estás é que vejo como fui uma louca. Enquanto te tenho ao pé, como que me deixas cega para a realidade das coisas. Fazes-me ver tudo de forma tão irreal que perco a noção das proporções, fico aturdida e confusa. Mas quando volto a ficar a sós com Jill, parece que recupero então o meu senso comum e me apercebo da grande asneira que estou a fazer e do modo injusto como te tenho tratado. Porque é tremendamente injusto para ti eu aceitar ir por diante com este romance quando, lá bem no fundo do meu coração, não consigo sentir por ti um verdadeiro amor. Bem sei que há muita gente que diz uma série de tolices e absurdos sobre o amor, mas eu não quero cair nisso. Quero, isso sim, ater-me aos factos concretos e agir com calma e sensatez. E é isso que me parece que não estou a fazer, já que não vejo por que razão irei eu casar contigo. Pois eu sei que não estou loucamente apaixonada por ti, como sempre imaginei que me iria suceder com os rapazes quando não passava ainda de uma jovem tonta, de uma rapariguinha com a cabeça cheia de fantasias. Tu és-me totalmente estranho, continuas a ser um estranho para mim e creio bem que nunca deixarás de o ser. Assim sendo, por que motivo casaria eu contigo? Quando penso na Jill, constato que ela está infinitamente mais próxima de mim. Conheço-a e tenho-lhe um grande amor, odiando-me a mim mesma como a uma besta sem coração se porventura a magoo infimamente que seja. Vivemos a nossa vida juntas e, mesmo que isso não possa durar para sempre, bem, enquanto durar sempre é uma vida, a nossa vida. E esta poderá durar enquanto ambas vivermos. Pois quem poderá saber quanto tempo iremos ainda viver? Ela é um pequenino ser, frágil e delicado, e talvez ninguém saiba bem como eu quão delicada ela é. Quanto a mim, sinto que posso muito bem cair da tripeça um dia destes. De ti é que eu sei nada, és-me totalmente desconhecido. E quando penso naquilo que tenho sido, no modo como tenho agido para contigo, então começo a recear ter alguns parafusos a menos. Custa-me pensar que uma tal senilidade mental se esteja a revelar tão precocemente, mas é isso que me parece estar a acontecer. Pois tu és-me de tal modo estranho, de tal modo diverso daquilo a que estou habituada, que não me parece que tenhamos nada em comum. E quanto a amor, a própria palavra me soa a falso, me parece absurda e impossível. Sei qual o significado do amor, até mesmo no caso da Jill, e por isso acho que no que nos diz respeito ele é uma impossibilidade absoluta. E depois mais isso de ir para o Canadá. Estou certa de que devia estar maluca de todo quando te prometi uma coisa dessas. E isso deixa-me profundamente assustada comigo mesma. Sinto que poderia muito bem vir a fazer uma loucura, a praticar qualquer acto realmente louco, de que não fosse responsável, e a ter de acabar os meus dias num manicômio. Es capaz de achar que já estou pronta para isso, tendo em conta o caminho que tenho vindo a trilhar, mas isso também não é lá muito lisonjeiro para mim. Graças a Deus que tenho aqui a Jill, pois a sua simples presença basta para me devolver o juízo. Caso contrário, não sei aquilo que faria. Poderia muito bem vir a ter um acidente com a espingarda uma noite destas. Amo a Jill e ela faz-me sentir calma e segura, restituindo-me a sanidade com as suas ternas reprimendas, com as suas amorosas zangas por eu ser tão doida e estouvada. Bom, mas aquilo que eu quero dizer é só isto: não achas melhor tentarmos esquecer tudo isto? Não posso casar contigo, pois é-me realmente impossível fazê-lo se acho isso errado. Foi tudo um grande erro, nada mais. Portei-me como uma doida varrida e tudo o que posso agora fazer é pedir-te desculpa. Por favor, peço-te que me esqueças e que não me voltes a procurar. A tua pele de raposo está quase pronta e parece-me de grande qualidade. Mandar-ta-ei pelo correio caso tenhas a amabilidade de me dizer se o teu endereço continua a ser este. Só te peço que aceites mais uma vez as minhas desculpas pela forma horrorosa e irresponsável como me comportei para contigo e que tentes esquecer o assunto.
A Jill manda-te os seus melhores cumprimentos. Os pais dela estão cá, vieram passar o Natal connosco.
Atenciosamente ELLEN MARCH."
O rapaz leu a carta no aquartelamento enquanto estava a limpar a sua mochila de apetrechos. Cerrando os dentes, ficou muito pálido por instantes, uma aura amarelada em torno dos olhos furiosos. Mas não disse palavra, deixando de ver e sentir fosse o que fosse, unicamente tomado de uma raiva surda, irracional, de uma fúria cega, quase demente. Derrotado! Derrotado mais uma vez! Frustrado! Falhado! E ele queria a mulher, ela enraizara-se-lhe na mente com a força obsessiva de um destino a cumprir, de uma sentença a executar. Possuir essa mulher era a sua perdição, o seu destino, a sua recompensa. Ela era para ele o céu e o inferno na terra, aquilo que não mais voltaria a encontrar. Cego de raiva e de fúria contida, assim passou a manhã. E se não estivesse tão ocupado a dar voltas à cabeça, magicando uma saída, planeando as mais diversas soluções, teria acabado por cometer uma loucura qualquer. Lá bem no fundo, sentia uma enorme vontade de gritar, de berrar, de ranger os dentes, de partir tudo à sua volta. Mas era demasiado inteligente para isso. Sabia que tinha de respeitar as normas sociais, que tinha de se refrear, pelo que não foi além do remoer de vinganças, do congeminar de planos, do matraquear de ideias e soluções. Assim, com os dentes cerrados e o nariz um tudo nada alçado, dando-lhe um ar extremamente curioso, qual estranha criatura demoníaca, os olhos fixos e extáticos, entregou-se aos trabalhos matinais meio ébrio de fúria e frustração mal contidas. Um só nome lhe dominava a mente: Banford. Não deu qualquer atenção ao efusivo palavreado de March, pois isso para ele não tinha importância absolutamente nenhuma. Mas, cravado na mente, havia um espinho que o torturava, dilacerante, profundo: Banford. Envenenando-lhe a mente, a alma, todo o seu ser, havia um espinho que o torturava, que o enlouquecia: Banford. E ele tinha de o arrancar. Tinha de arrancar aquele espinho da sua vida, tinha de arrancar aquele espinho que Banford encarnava, tinha de o fazer nem que morresse.
A mente obcecada por esta ideia fixa, decidiu ir pedir uma licença de vinte e quatro horas. Sabia que não tinha direito a ela, mas, possuído naquele dia de uma percepção particularmente aguda, de uma lucidez quase sobrenatural, soube de imediato onde devia dirigir-se: devia ir ter com o capitão. Mas como havia ele de descobrir o capitão? Naquele enorme aquartelamento, cheio de tendas e de barracões de madeira, não tinha a menor ideia de onde podia estar o seu capitão.
Porém, foi directo à cantina dos oficiais. E lá estava o seu capitão, de pé, a falar com três outros oficiais. Henry ficou à porta, em rígida posição de sentido.
- Posso falar com o capitão Berryman? - perguntou. Tal como ele, o capitão era natural da Cornualha.
- O que é que queres? - disse o capitão.
- Posso falar consigo, meu capitão?
- O que é que queres? - voltou a dizer o capitão, sem se mexer de onde estava, imóvel junto ao grupo dos seus camaradas.
Henry olhou o seu superior por alguns instantes sem dizer palavra.
- Não ma vai recusar, pois não, meu capitão? - perguntou então em tom de séria gravidade.
- Depende daquilo que for.
- Posso ter uma licença de vinte e quatro horas?
- Não, nem sequer tens direito a pedi-la.
- Eu sei que não, mas tenho de lha pedir.
- Pois bem, já tiveste a tua resposta.
- Por favor, não me mande embora, meu capitão.
Havia qualquer coisa de estranho naquele rapaz que ali estava à porta, tão rígido e insistente. E aquele capitão da Cornualha sentiu de imediato essa estranheza, fitando-o então com aguda curiosidade.
- Porquê, qual é a pressa? - perguntou ele, interessado.
- Estou a braços com um problema pessoal. Tenho de ir a Blewbury - respondeu o rapaz.
- Blewbury, hem? Alguma rapariga, é?
- Sim, é uma mulher, meu capitão. - E o rapaz, enquanto ali estava de pé, com cabeça ligeiramente inclinada para a frente, tornou-se - de súbito terrivelmente pálido, quase lívido, um intenso sofrimento estampado nos lábios cerrados, violáceos. Vendo isto, também o capitão se sentiu empalidecer, voltando-lhe então as costas.
- Bom, então vai lá - disse. - Mas, por amor de Deus, não te metas em barulhos nem me arranjes problemas, hem?
- Pode estar descansado, meu capitão. Muito obrigado.
Dito isto, saiu porta fora. O capitão, com um ar preocupado, tomou um gin com absinto. Henry conseguiu alugar uma bicicleta. Era meio-dia quando deixou o aquartelamento. Tinha de percorrer sessenta milhas por uma série de atalhos ensopados e lamacentos, mas, sem sequer pensar em comer, saltou para o selim e pôs-se imediatamente a caminho.
Na quinta, March dedicava-se a um trabalho que já em tempos tivera entre mãos. Um grupo de abetos escoceses erguia-se junto à extremidade do telheiro, sobre um pequeno talude por onde passava a vedação, serpenteando entre dois prados cobertos de urzes e tojo. A mais distante destas árvores estava morta. Morrera no Verão e para ali ficara com os seus ramos secos cheios de agulhas acastanhadas e murchas, erguendo-se no ar qual cadáver adiado. Não era uma árvore muito grande, além de que não havia dúvidas de que estava morta e bem morta. Assim, March decidira abatê-la, ainda que não estivessem autorizadas a cortar quaisquer árvores. Mas a verdade é que, naqueles tempos de falta de combustível, daria uma esplêndida lenha para alimentar a lareira.
Há já uma semana ou mais que ela andava a dar alguns golpes furtivos no tronco, desbastando-o de quando em vez à machadada durante uns cinco minutos, sempre junto à base e muito perto do solo, a fim de que ninguém notasse. Não tentara com a serra porque isso era um trabalho demasiado pesado para si. A árvore erguia-se agora com um profundo lanho na base do tronco, toda inclinada como que prestes a desabar, presa apenas por algum nó mais forte. Contudo, recusava-se a cair.
Estava-se em Dezembro, num fim de tarde de um dia frio e húmido. Uma névoa glacial subia dos bosques e dos vales, enquanto as trevas se adensavam por sobre os campos, prontas a tudo submergirem sob o seu manto negro. Viam-se ainda uns restos de claridade amarelada esmaecendo no horizonte, lá onde o sol começava a desaparecer por detrás dos bosques rasos perdidos na distância. March, pegando no machado, dirigiu-se para a árvore. O baque surdo dos seus golpes, ressoando, débeis, por sobre a quinta, soava de modo assaz ineficaz no ar invernio. Banford viera até cá fora vestida com o seu casaco grosso, mas, dado não trazer chapéu na cabeça, os seus cabelos, curtos e ralos, esvoaçavam sob o vento desagradável que se fazia sentir, zunindo por sobre o bosque, silvando por entre os pinheiros.
- Aquilo de que tenho medo - dizia Banford - é que venha a cair sobre o barracão e que lá tenhamos nós de ter mais um trabalhão a repará-lo.
- Oh, não me parece - respondeu March, endireitando-se e passando o braço pela testa alagada em suor. Estava terrivelmente afogueada, o rosto todo vermelho, com uma expressão bizarra nos olhos muito abertos, o lábio superior levantado, deixando à mostra os seus dois incisivos, muito brancos e brilhantes, que lhe davam um curioso ar de coelho.
Um homem baixo e corpulento, com um sobretudo preto e um chapéu de coco, chegou saltitando através do pátio. Tinha um rosto rosado e uma barba branca, com uns olhos pequeninos, de um azul pálido. Ainda não era muito velho, mas tinha ar de ser nervoso, no seu andar curto e miúdo.
- O que acha, pai? - perguntou Banford. - Não acha que pode atingir o barracão quando cair?
- O barracão? Não! Que ideia! - replicou o velhote. - E impossível atingir o barracão. A vedação já não digo, mas o barracão...
- A vedação não tem importância - disse March na sua voz forte.
- Como sempre, só digo asneiras - volveu Banford, afastando dos olhos o cabelo em desalinho.
A árvore mantinha-se de pé como presa de um só músculo, inclinada e plangente sob aquele vento forte. Crescera num talude entre dois prados, por sobre uma pequena vala agora seca. No topo do talude, erguia-se uma vedação solitária, algo desgarrada, subindo em direcção aos arbustos do cimo do monte. Erguiam-se ali diversas árvores, agrupadas naquele canto do campo, perto do barracão e do portão que dava para o pátio. Na direcção deste portão, estendendo-se horizontalmente ao longo dos prados monótonos e iguais, ficava a vereda, irregular e ervosa, que levava à estrada lá ao fundo. Aí havia uma outra vedação, já meio arruinada e periclitante arrastando-se campo fora com as suas compridas traves apodrecidas apoiadas em estacas curtas e grossas, bastante afastadas umas das outras. Os três estavam de pé, atrás da árvore, no canto do prado junto ao barracão, logo acima do portão do pátio. A casa, com as suas duas empenas e um alpendre, erguia-se, aprumada, no meio de um pequeno quintal relvado existente no pátio. Uma mulher atarracada e gorducha, de rosto corado, com um xaile de lã vermelha pelos ombros, surgiu então à porta, detendo-se depois sob o alpendre.
- Então, ainda não a deitaram abaixo? - exclamou, numa voz fraca e esganiçada.
- Está-se a pensar nisso - respondeu o marido. O tom com que falava com as duas raparigas era sempre algo trocista e mordaz. March não queria continuar a tentar derrubar a árvore enquanto ele ali estivesse. Pois, quanto a ele, nem um palito se incomodaria a levantar do chão se o pudesse evitar, queixando-se, à semelhança da filha, de ter um ombro apanhado de reumatismo. Assim, deixaram-se estar ali os três parados, momentaneamente imóveis e silenciosos na tarde fria, de pé junto ao pátio no canto mais afastado do campo.
Ouviram então o bater longínquo de um portão, pelo que viraram a cabeça para ver quem seria. Perdido na distância, vindo pela vereda verdejante, horizontal e plana, viram um vulto que nesse instante voltava a saltar para uma bicicleta, avançando aos solavancos por entre as ervas que atulhavam o caminho, em direcção ao portão da quinta.
- Mas é um dos nossos rapazes! Jack, creio - disse o velhote.
- Não, não pode ser - disse Banford por seu turno.
March virou também a cabeça, esticando o pescoço para ver melhor. E só ela reconheceu aquele vulto de caqui, corando sem dizer palavra.
- Não, não me parece que seja Jack - disse o velhote, fitando a distância com os seus olhinhos azuis, muito redondos sob as pestanas brancas.
Decorridos alguns instantes, a bicicleta surgiu à vista, sempre ziguezagueante, posto o que o ciclista se apeou junto ao portão. Era Henry, o rosto encharcado e vermelho, todo sujo de lama. Aliás, da cabeça aos pés, todo ele era lama.
- Oh! - exclamou Banford, como que subitamente receosa. - Mas é o Henry!
- O quê! - exclamou o velhote em voz surda. Tinha uma forma de falar muito curiosa, algo pastosa e rápida, como se andasse sempre a resmungar entredentes, além de também ser um pouco surdo. - O quê? O quê? Quem é? Quem é que disseste que era? O tal rapaz? O tal rapaz da Nellie? Oh! Oh! - E um sorriso irónico espelhou-se-lhe no rosto rosado, as pestanas brancas moven-do-se rápidas e trocistas.
Henry, afastando o cabelo molhado da fronte húmida e quente, já os tinha visto. E, ao ouvir o que o velhote dissera, o seu rosto jovem, afogueado e vermelho, pareceu incendiar-se num súbito fulgor faiscante, brilhando, luminoso, à luz crua daquela dia frio.
- Oh, estão todos aqui! - disse então ele, soltando aquele seu riso de cachorrinho, rápido e breve. Sentia-se tão afogueado e tonto de tanto pedalar que mal sabia onde estava. Encostando a bicicleta à vedação, saltou então por ela. Depois, sem entrar no pátio, trepou até ao canto onde ficava o talude.
- Bem, devo dizer que não estávamos à sua espera - disse Banford, lacónica.
- Sim, parece-me bem que não - respondeu ele, olhando para March.
Esta estava um pouco afastada, mantendo--se de pé com um joelho dobrado, um ar ausente no rosto inexpressivo, o machado pendendo-lhe da mão num gesto de abandono, com a ponta apoiada no chão. Tinha os olhos muito abertos, vazios e abstractos, com o lábio superior levantado e os dentes à mostra, dando-lhe aquele estranho ar de coelho, misto de fascínio e desalento. No exacto momento em que vira aquele rosto rubro e coruscante, tudo acabara para ela. Sentia-se tão indefesa como se estivesse amarrada de pés e mãos. Sim, no exacto momento em que vira a forma como aquela cabeça parecia adiantar-se, atirada para a frente, tudo acabara para ela.
- Bom, mas afinal quem é? Então, não me dizem quem é? - perguntou o velhote, sorridente e trocista, naquele seu tom resmungado.
- Ora essa, pai, bem sabe quem é. E o senhor Grenfel, de quem já nos ouviu falar - respondeu friamente Banford.
- Sim, acho que sim, já te ouvi falar dele. Mas, à parte isso, não sei praticamente nada a seu respeito - resmungou o ancião, com aquele seu curioso risinho sarcástico espelhado no rosto. - Como está? - acrescentou depois, estendendo subitamente a mão a Henry.
O rapaz apertou-lhe a mão como que surpreendido. Depois, voltaram a afastar-se.
- Então veio a pedalar todo o caminho desde a planície de Salisbury, não é assim? - perguntou o velhote.
- Sim, é verdade.
- Ah! Grande esticão!... E quanto tempo levou, hem? Muito tempo, não? Presumo que várias horas.
- A roda de quatro, sim.
- Quatro, hem? Sim, logo pensei que devia andar por aí. E então quando é que tem que voltar?
- Tenho licença até amanhã à tarde.
- Até amanhã à tarde, disse? Sim, senhor, muito bem. Ah! As raparigas não estavam à sua espera, pois não?
E o velhote, virando-se para as raparigas, olhou-as com os seus olhinhos trocistas, uns olhos redondos e azuis, de um azul pálido muito brilhante sob as pestanas brancas. Henry olhou também à sua volta. Começava a sentir-se um pouco embaraçado. Olhou então para March, que continuava imóvel, olhos fixos na distância como que a ver por onde andava o gado. Tinha a mão assente no cabo do machado, a lâmina negligentemente pousada no chão.
- Que estavam aqui a fazer? - perguntou ele, na sua voz suave e cortês. - A deitar abaixo uma árvore?
March parecia não o ouvir, extática como se estivesse em transe.
- É verdade - respondeu Banford. - Há já uma semana que andamos a tentar derrubá-la.
- Oh! Então têm feito todo o trabalho sozinhas, não?
- A Nellie é que tem, eu cá por mim não fiz nada - retorquiu Banford.
- Palavra? Nesse caso, deves ter tido muito trabalho - disse então ele, dirigindo-se directamente a March num tom de voz algo estranho, apesar de gentil e cortês. Mas ela não respondeu, mantendo-se um pouco de lado, os olhos obsessivamente fixos na distância, olhando os bosques lá ao fundo como que hipnotizada.
- Nellie! - gritou Banford em voz aguda. - Não sabes responder?
- Quem, eu? - exclamou March, só então se virando para os olhar. - Alguém falou comigo?
- Está na lua, é o que é! - resmoneou o velhote, virando o rosto num sorriso. - Deve estar apaixonada, hem, assim a sonhar acordada!...
- Falaste comigo, foi? - disse March, olhando então para o rapaz de uma forma estranha, como se acabasse de voltar de muito longe, um ar de dúvida nos olhos abertos, interrogativos, o rosto levemente ruborizado.
- Disse que deves ter tido muito trabalho com a árvore, que deves andar muito cansada - respondeu ele cortesmente.
- Oh, isso! Dei-lhe umas machadadas de quando em vez, pensando que acabaria por cair.
- Graças aos céus que não caiu durante a noite, caso contrário teríamos morrido de susto - disse Banford.
- Deixa-me acabar isto por ti, está bem? - pediu o rapaz.
March estendeu então o machado na sua direcção, o cabo virado para ele.
- Não te importas? - perguntou.
- Claro que não, se me deres licença - respondeu ele.
- Oh, cá por mim fico satisfeita quando a vir por terra! Só isso interessa, nada mais - volveu ela em tom negligente.
- Para que lado irá cair? - disse Banford. - Será que pode cair sobre o barracão?
- Não, não deve atingir o barracão - respondeu ele. - Acho que irá cair além, em terreno aberto. Quanto muito, poderá dar uma volta e cair sobre a vedação.
- Cair sobre a vedação! - exclamou o velhote. - Ora essa, cair sobre a vedação! Inclinada como está, com um ângulo destes?
Além de que ainda é mais longe do que o barracão! Não, sobre a vedação é que não vai cair.
- Realmente - atalhou Henry -, isso é muito improvável. Acho que tem razão, tem muito espaço livre para cair. E, deve cair em terreno aberto.
- Espero que não vá cair para trás, abatendo-se sobre as nossas cabeças! - disse o velhote, sarcástico.
- Não, isso não vai acontecer - respondeu Henry, tirando a samarra e o casaco. - Toca a andar, patos, fora daqui!
Vindos do prado acima, uma fila de quatro patos brancos com pintas acastanhadas, conduzidos por um macho castanho e verde, vinham disparados colina abaixo, vogando como barcos em mar encapelado, os bicos abertos, furiosos, enquanto desciam em grande velocidade por ali abaixo em direcção à vedação e ao pequeno grupo ali reunido, grasnando numa tal excitação que dir-se-ia trazerem novas da Armada Espanhola.
- Oh, grandes tontinhos, grandes tontinhos! - gritou Banford, indo até junto deles para os afugentar dali. Mas eles dirigiram-se impetuosamente ao seu encontro, abrindo os bicos amarelo esverdeados e grasnando como se estivessem excitadíssimos para lhe comunicar uma qualquer novidade.
- Aqui não há comida, não há nada para vocês. Esperem um bocado que já comem - dizia-lhes Banford. - Vá, vão-se embora, vão--se embora! Dêem a volta, vão para o pátio!
Mas, como eles não lhe obedeciam, ela decidiu-se a trepar a vedação a fim de ver se os desviava dali, de modo a que dessem a volta por debaixo do portão e entrassem no pátio. E lá foram eles atrás, a abanarem-se novamente todos excitados, sacudindo o rabo como popas de pequeninas gôndolas ao mergulharem por debaixo da grade do portão. Banford parou então no alto do talude, imediatamente acima da vedação, ficando ali de pé a olhar para os outros três lá em baixo.
Erguendo os olhos, Henry fitou-a, indo ao encontro daqueles olhos mirrados e fracos, daquelas pupilas arredondadas e estranhas que o miravam por detrás dos óculos. Perfeitamente imóvel, olhou então para cima, para a árvore inclinada e instável. E, enquanto olhava para o céu, como um caçador observando o voo da ave que se propõe abater, pensou para consigo: "Se a árvore cair da forma que parece indicar, dando uma volta no ar antes da queda, então aquele ramo além vai abater-se sobre ela, no ponto exacto em que ela está, de pé no cimo daquele talude."
Voltou então a olhá-la. Lá estava ela, a afastar os cabelos da testa, naquele seu gesto tão habitual e constante. No fundo do seu coração, ele já decidira que ela tinha de morrer. Uma força terrível, paralisante, pareceu nascer dentro de si à semelhança de um poder de que fosse ele o único detentor. Se se voltasse, se fizesse qualquer movimento, mesmo que ínfimo como um cabelo, na direcção errada, então aquele poder fugir-lhe-ia, esfumar-se-ia instantaneamente.
- Tenha cuidado, Miss Banford - disse então ele. E o seu coração como que se imobilizou, inteiramente possuído daquela vontade pura, daquele desejo indómito de que ela não se movesse.
- Quem, eu? Quer que eu tenha cuidado, é? - gritou-lhe Banford, numa voz possuída do mesmo tom sarcástico do pai. - Porquê, pensa que me pode atingir com o machado, é isso?
- Não, mas no entretanto pode dar-se o caso de ser a árvore a atingi-la - respondeu ele numa voz neutra. Contudo, o tom em que falou fê-la deduzir que ele estava tão-só a ser falsamente solícito no intuito de a levar a mover-se, no prazer de a ver vergar, obediente, sob a sua vontade.
- Isso é absolutamente impossível - disse ela então.
Ele ouviu-a. Contudo, manteve a sua imobilidade de estátua, quedando-se hirto e parado como um bloco de gelo, não fosse o seu poder esvair-se.
- Não, olhe que é sempre uma hipótese. Acho melhor descer por aquele lado.
- Oh, está bem, deixe-se disso! Vamos mas é a ver essa famosa arte dos Canadianos a abater árvores - replicou ela.
- Então, atenção! - disse ele, pegando no machado e olhando à sua volta para ver se tinha espaço livre.
Houve um momento de pausa, de pura imobilidade, em que o mundo pareceu deter--se, suspenso daquele instante. Então, a sua silhueta pareceu de súbito irromper do nada, avolumando-se gigantesca e terrível, para logo desfechar dois golpes rápidos, fulgurantes, um após outro em sucessão imediata, fazendo com que a árvore finalmente abatida, girasse lentamente, num estranho rodopiar de parafuso, fendendo o ar até descer sobre a terra como um súbito manto de trevas. E só ele viu aquilo que então aconteceu. Só ele ouviu o estranho grito que Banford soltou, um grito débil e abafado, quando viu os ramos superiores a abaterem-se, aquela sombra negra descendo, célere, sobre a terra, desabando, terrível, sobre si. Só ele viu como ela se encolheu, num gesto tímido e instintivo, recebendo na nuca toda a força da pancada. Só ele viu como ela foi atirada longe, como acabou por se estatelar, feita uma massa informe e retorcida, aos pés da vedação. Só ele, mais ninguém. E o rapaz viu tudo isto com uns olhos muito abertos e brilhantes, tão fixos e intensos como se observasse a queda de um pato-bravo que acabasse de abater. Estaria ferida, estaria morta? Não, estava morta. Morta!
De imediato, deu um grande grito. Simultaneamente, March soltou um grito agudo, selvagem, quase que um guincho, que ecoou longe na distância, repercutindo-se, sonoro, na tarde fria e parada. Quanto ao pai de Banford, emitiu um estranho urro, longo e abafado.
O rapaz saltou a vedação e correu para a figura ali caída. A nuca e a cabeça não passavam de uma massa informe, sangue e horror em partes iguais. Virou-a então de costas. O corpo fremia ainda em rápidas convulsões, secas e breves. Mas já estava morta, já estava de facto morta. Ele sabia que assim era, sentia-o na alma e no sangue. Cumpria-se assim aquela sua necessidade interior, aquela exigência vital, imperiosa, sendo ele o sobrevivente. Sim, fora ele quem sobrevivera, arrancado que fora o espinho que até então lhe revolvera as entranhas. Assim, pousou-a gentilmente no chão. Estava morta, disso não havia dúvidas.
Erguendo-se, viu March que se quedara hirta como que petrificada, ali parada absolutamente imóvel, dir-se-ia que presa ao chão por uma força invisível. Tinha o rosto mortalmente pálido, os olhos negros transformados em dois grandes abismos aquosos, trevas e dor bailando-lhe nas pupilas. O velhote tentava escalar a vedação, horrível de ver na incoerência e no esforço.
- Receio bem que tenha morrido - disse então o rapaz.
O velhote chorava de uma forma estranha, soluçada, emitindo curiosos ruídos enquanto se apressava por sobre a vedação.
- O quê! - gritou March, como que electrizada.
- Sim, receio bem que sim - repetiu o rapaz.
March vinha agora a caminho. Adiantando-se-lhe, o rapaz atingiu a vedação antes de ela lá conseguir chegar.
- Que estás a dizer, morta, como? - perguntou em voz aguda.
- Assim mesmo, morta. Receio bem que esteja morta - respondeu ele com enorme suavidade.
Ela tornou-se então ainda mais pálida, terrivelmente pálida e branca. E ficaram ali os dois a olhar um para o outro. Os seus olhos negros muito abertos fitavam-no num último lampejo de resistência. Depois, finalmente quebrada na agonia da dor, começou a choramingar, a chorar de uma forma contida, o corpo sacudido por estremeções, à semelhança de uma criança que não quer chorar mas que, destruída por dentro, solta aqueles primeiros soluços, sacudidos e fracos, que antecedem a irrupção do choro, do brotar das lágrimas, aqueles primeiros soluços secos, devastadores, terríveis.
Ele ganhara. Ela quedava-se ali de pé, abandonada e só, no mais total desamparo, o corpo sacudido por aqueles soluços secos, os lábios percorridos por um tremor rápido, espasmódico. E então, precedidas de uma pequena convulsão como acontece com as crianças, vieram as lágrimas, a agonia cega dos olhos turvos, rasos de água, do choro desgastante e infindo, dos olhos gastos até à última gota. Caiu depois por terra, ficando sentada na relva com as mãos sobre o peito e o rosto erguido, os olhos toldados por aquele choro convulsivo. Ele ficou de pé, olhando-a de cima, qual estátua pálida e muda, como que subitamente imobilizado para toda a eternidade. Sem se mover, quedou-se assim imóvel a olhar para ela. E, apesar da tortura que tal cena lhe causava, apesar da tortura do seu próprio coração, da tortura que lhe enovelava as entranhas, ele rejubilava. Ganhara, finalmente.
Longo tempo volvido, debruçou-se enfim sobre ela, pegando-lhe na mão.
- Não chores - disse-lhe então com doçura. - Não chores.
Ela olhou para ele por entre as lágrimas que lhe escorriam olhos abaixo, um ar abstracto no rosto desamparado e submisso. Assim, deixou-se estar de olhos pregados nos dele como se não o visse, como se subitamente cega, sem vista, apesar de continuar a olhá-lo de rosto erguido. Sim, não mais voltaria a deixá-lo. Ele tinha-a conquistado. E ele sabia disso, por isso rejubilava. Pois queria-a para sua mulher, a sua vida necessitava dela. E agora conquistara-a. Conquistara-a, conquistara finalmente aquilo de que a sua vida tanto necessitava.
Mas, se bem que a tivesse conquistado, ela ainda lhe não pertencia. Casaram, pois, pelo Natal conforme planeado, pelo que ele voltou a obter uma licença de dez dias. Foram então para a Cornualha, para a aldeia donde ele era natural, mesmo junto ao mar. Pois ele apercebera-se de que seria terrível para ela continuar na quinta por muito mais tempo.
Mas, ainda que ela agora lhe pertencesse, ainda que vivesse na sua sombra, como se não pudesse estar longe dele, a verdade é que ela não era feliz. Não que quisesse abandoná-lo, isso nunca, mas também não se sentia livre ao pé dele. Tudo à sua volta parecia espiá-la, pressioná-la. Ele tinha-a conquistado, tinha-a ao seu lado, fizera dela sua mulher. Quanto a ela, ela pertencia-lhe e sabia-o. Contudo, não era feliz. E também ele continuava a sentir-se frustrado. Apercebera-se de que, apesar de ter casado com ela e de, aparentemente, a ter possuído de todas as formas possíveis, apesar, inclusive, de ela querer que ele a possuísse, de ela o querer com todas as forças do seu ser, nada mais desejando para lá disso, a verdade é que não se sentia plenamente realizado, como se houvesse algures uma falha indetectada.
Sim, faltava, de facto, qualquer coisa. Pois ela, em vez da sua alma rejubilar com a nova vida que agora tinha, parecia antes definhar, exaurir-se, sangrar como se estivesse ferida. Assim, ficava longo tempo com a sua mão na dele, olhando o mar. Mas nos seus olhos negros e vadios havia como que uma espécie de ferida, o rosto ligeiramente mais magro, mais mirrado. E caso ele lhe falasse, ela virar--se-ia para ele com um sorriso diferente, débil e baço, o sorriso trémulo e ausente de uma mulher que, morta a sua antiga forma de amar, ainda não conseguira despertar para a nova forma de amor que agora lhe era dado experimentar. Pois ela continuava a sentir a necessidade de fazer qualquer coisa, de se esforçar em qualquer direcção. E ali não havia nada para fazer, não havia direcção em que pudesse esforçar-se. Além disso, não conseguia aceitar totalmente aquela espécie de apagamento, de submersão, que a nova forma de amar parecia exigir-lhe. Pois, estando apaixonada, sentia-se na necessidade de, de uma forma ou de outra, dar prova desse mesmo amor exteriorizando-o. Sentia-se dominada pela enervante necessidade, tão comum nos nossos dias, de dar prova do amor que se tem por alguém. Mas sabia que, na verdade, devia deixar de continuar a querer dar prova do seu amor. Pois ele não aceitaria esse amor, um amor que tinha de dar prova de si mesmo, o amor de que ela queria dar prova perante ele. Sempre que tal sucedia, ele ficava sombrio, um ar de desagrado no rosto carregado. Não, ele não a deixaria dar prova do seu amor para com ele. Não, ela tinha de ser passiva, aquiescente, de se deixar apagar, de se deixar submergir sob as águas calmas do amor. Ela tinha de ser como as algas que costumava ver ao passear de barco, balouçando suave e delicadamente, para sempre submersas sob as águas, com todas as suas delicadas fibrilas para fora, estendidas num doce ondular, vergadas e passivas sob a força da corrente, delicadas, sensíveis, numa entrega total, absoluta, abandonando-se, em toda a sua sensibilidade, em toda a sua receptividade, sob as águas escuras do mar envolvente, sem nunca, mas nunca, tentarem subir, emergir de sob as águas enquanto vivas. Não, nunca. Nunca emergem de sob as águas enquanto vivas, só depois de mortas, quando, já cadáveres, sobem então à tona, levadas pela maré. Mas, enquanto vivas, mantêm-se sempre submersas, sempre sob as ondas. E, contudo, apesar de jazerem sob as ondas, podem criar poderosas raízes, raízes mais fortes que o próprio ferro, raízes que podem ser tenazes e perigosas no seu suave ondular, batidas pelas correntes.
Jazendo sob as ondas, podem, inclusive, ser mais fortes e indestrutíveis do que os orgulhosos carvalhos que se erguem sobre a terra. Mas sempre, sempre submersas, sempre sob as águas. E ela, sendo mulher, teria de ser assim, teria de aprender a ser como essas algas.
Mas ela estava de tal modo acostumada a ser precisamente o oposto! Sempre tivera de chamar a si todas as responsabilidades, todas as preocupações, sempre tivera de ser ela a ocupar-se do amor e da vida. Dia após dia, tornara-se responsável pelo novo dia, pelo novo ano, pela saúde da sua querida Jill, pela sua felicidade, pelo seu bem-estar. Na verdade, e na medida da sua própria pequenez, acabara por se sentir responsável pelo bem--estar de todo o mundo. E o seu grande estimulante fora precisamente esse maravilhoso sentimento, esse sentimento de que, à escala da sua reduzida dimensão, ela era responsável pelo bem-estar do mundo inteiro.
E falhara. Falhara e sabia-o, sabia que, mesmo à sua pequena escala, acabara por falhar. Falhara em não conseguir satisfazer o seu próprio sentido das responsabilidades. Pois tudo lhe fora tão difícil! De início, tudo lhe parecera fácil, tudo lhe parecera belo. Mas, quanto mais se esforçava, mais difíceis as coisas se tornavam. Parecera-lhe tão fácil tornar feliz um ente querido! Mas não, fora terrível.
Toda a sua vida se esforçara, toda a sua vida tentara alcançar algo que parecia estar tão próximo, quase ao alcance da mão, gastando--se e consumindo-se até ao extremo limite das suas forças, para só então se dar conta de que isso estava sempre para além de si.
Sempre inatingível, sempre para além de si, irrealizável e vago, até que, por fim, acabara por se ver sem nada, totalmente despojada e vazia. A vida por que lutara, a felicidade que sempre almejara, o bem-estar por que tanto se esforçara, tudo resvalou no abismo, tornando--se vago e irreal, por mais longe que ela tentasse ir, as mãos estendidas, anelantes e vazias. Quisera ter um objectivo, uma finalidade por que lutar, mas não, não havia nada, só o vazio. E sempre aquela horrível busca, aquele constante esforço, aquele empenhamento em alcançar algo que talvez estivesse logo ali, logo ali ao virar da esquina. Até mesmo na sua tentativa de tornar Jill feliz, até mesmo aí falhara. Agora quase que se sentia aliviada por Jill ter morrido. Pois apercebera-se de que nunca a conseguiria fazer feliz. Jill nunca deixaria de se preocupar, sempre atormentada e aflita, cada vez mais mirrada, cada vez mais fraca. Em vez de diminuírem, as suas preocupações e dores nunca deixariam de aumentar. Sim, havia de ser sempre assim, havia de ser sempre assim até ao findar dos tempos. E, na verdade sentia--se aliviada, quase feliz por ela ter morrido.
Mas se, em vez disso, se tivesse casado com um homem, tudo teria sido igual. Sempre com a mulher a esforçar-se, a esforçar-se por tornar o homem feliz, a empenhar-se dentro dos seus limitados recursos pelo bem-estar do seu pequeno mundo. E nada obtendo senão o fracasso, um constante e enorme fracasso. Quanto muito, só pequenos e ilusórios sucessos, frivolidades tão aburdas como o dinheiro ou a ambição. Mas no aspecto em que verdadeiramente mais desejaria triunfar, no angustiado esforço de tentar tornar feliz e perfeito um qualquer ente amado, então aí o fracasso revelava-se total, quase catastrófico. Deseja-se sempre tornar feliz o ser amado, parecendo--nos que a sua felicidade está perfeitamente ao nosso alcance. Basta que façamos isto, aquilo e aqueloutro. E empenhamo-nos com toda a boa-fé, fazemos tudo e mais alguma coisa, mas, de cada vez, o falhanço parece crescer mais e mais, agigantar-se, medonho e terrível. Podemos, inclusive, lançar por terra o nosso amor-próprio, esforçarmo-nos e lutarmos até aos ossos sem que as coisas melhorem, antes pelo contrário, com tudo a piorar de dia para dia, indo de mal a pior, e bem assim a almejada felicidade. Oh, a felicidade! Que medonho engano, não é!
Pobre March! Com toda a sua boa vontade e sentido das responsabilidades, ela esforçara-se até mais não, esforçara-se e lutara até começar a ter a sensação de que tudo, de que toda a vida não passava de um horrível abismo de poeira e vazio. Quanto mais nos esforçamos por alcançar a flor fatal da felicidade, tremulando, tão amorosa e azul, na beira de um barranco quase ao alcance da mão, tanto mais assustados ficamos ao apercebermo-nos do horrível e pavoroso abismo do precipício que se abre aos nossos pés, no qual acabaremos inevitavelmente por cair, como num poço sem fundo, se tentarmos ir mais longe. E então colhe-se flor após flor, mas nunca a flor, nunca aquela por que tanto ansiamos. Pois essa flor oculta no seu cálice, qual poço sem fundo, um pavoroso abismo, um abismo de trevas e voragem, insondável, tenebroso.
Eis toda a história da busca da felicidade, quer seja a nossa ou a de outrem que se pretenda atingir. Tal busca acaba sempre, mas sempre, na horrível sensação de haver um poço sem fundo, um abismo de pó e nada no qual acabaremos inevitavelmente por cair se se tentar ir mais longe.
E as mulheres? Que outro objectivo pode uma mulher conceber senão a felicidade? Só a felicidade e nada mais que a felicidade, a felicidade para si própria e para todos aqueles que a rodeiam, a felicidade para o mundo inteiro, em suma. Só isso, nada mais. E assim, assume todas as responsabilidades inerentes e parte em busca do almejado objectivo. Quase que o pode ver ali, logo ali no fim do arco-íris. Ou então um pouquinho mais além, no azul da distância. De qualquer das formas, não muito longe, nunca muito longe.
Mas o fim do arco-íris é um abismo sem fundo, perdendo-se terra adentro, no qual se pode mergulhar sem nunca se chegar a lado algum, e o azul da distância é um poço de vazio que nos pode engolir, a nós e a todos os nossos esforços, no vácuo da sua voracidade sem por isso deixar de ser um abismo sem fim, um abismo de trevas e de nada. Sim, a nós e a todos os nossos esforços. Assim é a incessante perseguição da felicidade, sempre tão ilusoriamente ao nosso alcance!
Pobre March! Ela que partira com tão admirável determinação em busca da meta entrevista no azul da distância. E quanto mais longe ia, tanto mais terrível se tornava a noção da vacuidade envolvente. Por último, tal percepção tornara-se para si numa fonte de dolorosa agonia, numa sensação de insanidade, de loucura.
Estava feliz por tudo ter acabado. Estava feliz por se poder sentar na praia a olhar o poente por sobre o mar, sabendo que tudo acabara, que todo aquele formidável esforço chegara ao fim. Nunca mais voltaria a lutar pelo amor e pela felicidade. Não, nunca mais. Pois Jill estava agora segura, salva pela morte. Pobre Jill, pobre Jill! Como devia ser doce estar morta!
Mas, quanto a si, o seu destino não se cumpria na morte. Tinha de deixar o seu destino nas mãos daquele rapaz. Só que o rapaz pretendia muito mais do que isso, muito mais. Ele pretendia que ela se lhe entregasse sem reservas, que se deixasse afundar, submergir por ele. E ela, ela só desejava poder quedar-se imóvel, ficar ali sentada a olhar a distância como uma mulher que chegou ao fim do caminho, como uma mulher que, atingida a última etapa, pára por fim para descansar. Ela queria ver, saber, compreender. Ela queria estar sozinha, ficar só, com ele a seu lado, sim, mas só.
Oh, mas ele!... Ele não queria que ela observasse mais nada, que continuasse a ver ou a compreender fosse o que fosse. Ele queria velar-lhe o seu espírito de mulher como os Orientais usam velar o rosto das suas esposas. Ele queria que ela se lhe entregasse de corpo e alma, que adormecesse o seu espírito de independência. E queria libertá-la de todo o esforço de realização, de tudo aquilo que parecia ser a sua verdadeira raison d'etre. Ele queria torná-la submissa, rendida, queria que ela deixasse cegamente para trás toda a sua vívida consciência, abandonando-a de vez e para sempre. Queria extirpar-lhe essa consciência, queria que ela se tornasse tão-só sua mulher, sua mulher e nada mais. Nada mais.
Ela sentia-se tão cansada, tão cansada, quase como uma criança que se sente cheia de sono mas que luta contra isso como se dormir fosse sinónimo de morrer. Assim, os seus olhos pareciam dilatar-se mais e mais, tensos e rasgados, no esforço obstinado de se manter acordada. Ela tinha de se manter acordada. Tinha de saber. Tinha de ponderar, ajuizar e decidir. Tinha de manter bem firmes nas mãos as rédeas da sua própria vida. Tinha de ser uma mulher independente até ao fim. Mas estava tão cansada, tão cansada de tudo e de todos... E tinha tanto sono, tanto sono... Sentia-se tão quebrada ali ao pé do rapaz, ele transmitia-lhe uma tal calma, uma tal tranquilidade...
Contudo, os olhos dilatavam-se-lhe mais e mais, ali sentada num recanto daqueles altos penhascos bravios da Cornualha Ocidental, olhando o poente por sobre as águas do mar, olhando para oeste, lá onde ficavam o Canadá e a América. Ela tinha de saber, tinha de conseguir ver aquilo que estava para vir, aquilo que a esperava para lá do horizonte. Sentado a seu lado, o rapaz olhava as gaivotas que voavam mais abaixo, um ar sombrio no rosto carregado, os olhos tensos, descontentes. Ele queria vê-la adormecida e em paz a seu lado. Queria que ela se lhe abandonasse, queria ser o seu sono e a sua paz. E ali estava ela, quase morta pelo esforço insano da sua própria vigília. Contudo, ela nunca adormeceria. Não, nunca. Às vezes, ele pensava amargamente que teria sido melhor abandoná-la, que nunca devia ter matado Banford, que devia ter deixado que Banford e March se matassem uma à outra.
Mas isso era mera impaciência e ele sabia-o. Estava à espera, à espera de poder partir para oeste. E desejava ansiosamente partir, era quase um suplício ter de continuar à espera de poder deixar a Inglaterra, de poder ir para oeste, de poder levar March consigo. Oh, que ânsias de deixar aquela costa! Pois tinha esperança de que, quando fossem já por sobre as ondas, cruzando os mares com a Inglaterra finalmente para trás, aquela Inglaterra que ele tanto odiava, talvez porque, de certa forma, esta parecia tê-lo envenenado, ter-lhe espetado o seu ferrão, ela acabaria finalmente por adormecer, fechara finalmente os olhos, dando-se-lhe sem reservas.
E então ela seria finalmente sua e ele poderia, por fim, viver a sua própria vida, a vida por que tanto ansiava. Agora sentia-se irritado e aborrecido, sabendo que ainda não alcançara essa vida que desejava viver. E nunca a alcançaria enquanto ela não se rendesse, enquanto ela não adormecesse de vez, entregando-se-lhe, dissolvendo-se nele. Então sim, então ele já poderia viver a sua própria vida enquanto homem e enquanto macho, tal como ela já poderia viver a dela enquanto mulher e enquanto fêmea. E deixaria para sempre de haver esta medonha tensão, este esforço tenaz, obstinado, insano. Ela nunca mais voltaria a parecer um homem, a querer ser uma mulher independente com responsabilidades de homem. Não, nunca mais, pois até mesmo a responsabilidade pela sua própria alma ela teria de lhe confiar, de entregar nas suas mãos. Ele sabia que tinha de ser assim, por isso lhe fazia obstinadamente frente, esperando a sua rendição.
- Sentir-te-ás melhor uma vez que tenhamos partido, cruzando os mares em direcção ao Canadá, lá diante - disse-lhe ele quando se sentaram nas rochas por sobre o penhasco.
Ela olhou então para o horizonte, lá onde o céu e o mar se confundiam, como se este não fosse real. Depois, voltando-se para ele, olhou-o com aquela estranha expressão de esforço de uma criança em luta contra o sono.
- Achas que sim? - perguntou.
- Sim, acho que sim - respondeu ele calmamente.
As pálpebras descaíram-lhe então ligeiramente, num movimento lento, suave, quase imperceptível, sob o peso involuntário do sono. Mas, voltando a erguê-las, abriu os olhos e disse:
- Sim, talvez. Não sei dizer. Não faço ideia de como as coisas se irão passar depois de lá chegarmos.
- Ah, se ao menos pudéssemos partir depressa! - exclamou ele, numa voz dolorida.
As duas raparigas eram vulgarmente conhecidas pelos seus apelidos, Banford e March. Juntas, tinham tomado conta da quinta, pretendendo fazê-la funcionar sem a ajuda de ninguém: ou seja, dispunham-se a criar galinhas, sobreviver com a venda das aves, e, além disso, arranjar uma vaca e criar um ou dois novilhos. Infelizmente, as coisas não lhes correram bem.
Banford era pequena, magra, uma figurinha delicada com uns óculos. Contudo, era a principal investidora, já que March pouco ou nenhum dinheiro tinha. O pai de Banford, que era negociante em Islington, deu à filha uma ajuda inicial, primeiro a pensar na sua saúde e depois porque a amava, além de que não lhe parecia provável que ela algum dia se viesse a casar. March era mais robusta. Aprendera carpintaria e marcenaria em Islington, num curso nocturno que aí frequentara. Seria ela o homem da casa. Além do mais, o velho avô de Banford viveu com elas nos primeiros tempos. Outrora, tinha sido lavrador. Mas, infelizmente, o velho morreu passado um ano de estar com elas em Bailey Farm. E então as duas raparigas ficaram sozinhas.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/O_RAPOSO.jpg
Nenhuma delas era nova: isto é, andavam à volta dos trinta. Mas é claro que não eram velhas. E meteram mãos à obra com grande coragem. Tinham inúmeras galinhas, Leghorns pretas e brancas, Plymouths e Wyandots; também tinham alguns patos e duas vitelas nos campos de pastagem. Infelizmente, uma delas recusou-se em absoluto a permanecer nos cercados de Bailey Farm. Fosse como fosse que March fizesse as vedações, a vitela arranjava sempre forma de fugir, correndo, selvagem, pelos bosques ou invadindo as pastagens vizinhas, pelo que March e Banford andavam sempre por fora, a correr atrás dela com mais cansaço do que sucesso. Assim, desesperadas, acabaram por vender a vitela. E precisamente antes de o outro animal estar para ter o seu primeiro vitelo, o velho morreu, pelo que as raparigas, receosas do parto iminente, o venderam em pânico, limitando doravante as suas atenções às galinhas e aos patos.
A despeito de um certo pesar, não deixou de ser um alívio não terem de cuidar de mais gado. A vida não servia apenas para ser passada a trabalhar. Ambas as raparigas concordavam neste ponto. As aves já eram preocupação
8
que chegasse. March instalara a sua bancada de carpinteiro ao fundo do telheiro. E aí trabalhava, fazendo armações de galinheiro, portas e outros elementos. As aves tinham sido colocadas no edifício maior, o qual servira outrora de celeiro e estábulo. Tinham uma casa magnífica, pelo que deveriam estar bastante satisfeitas. Na verdade, pareciam bastante bem. Mas as raparigas andavam aborrecidas com a tendência das aves para apanharem estranhas doenças, com a exasperante exactidão do seu modo de vida e com a sua recusa, recusa constante, obstinada, em porem ovos.
March fazia a maior parte do trabalho não doméstico. Quando estava por fora, nas suas andanças, vestida com umas grevas e uns calções, com o seu casaco cintado e um boné largo, quase que parecia um qualquer rapaz, ar agradável, porte indolente, bamboleante, devido aos seus ombros direitos e aos movimentos fáceis, confiantes, com alguns laivos até de indiferença ou ironia. Contudo, o seu rosto não era um rosto de homem. Quando curvada, o cabelo, negro e encaracolado, esvoaçava em madeixas à sua volta; quando direita, voltando a olhar em frente, havia nos seus olhos negros, olhos grandes, arregalados, um brilho estranho, misto de espanto,
timidez e sarcasmo ao mesmo tempo. E também a boca se mostrava crispada, como que por dor ou ironia. Havia nela qualquer coisa de estranho, de inexplicável. Podia quedar-se apoiada numa só anca, observando as aves que perambulavam pela lama fina, repugnante, do pátio em declive, chamando depois a sua galinha favorita, uma galinha branca que respondia pelo nome, vindo a saltitar até junto dela. Mas havia uma espécie de lampejo satírico nos grandes olhos negros de March quando fitava aqueles seres de três dedos que andavam de cá para lá sob o seu olhar atento, notando-se na voz o mesmo tom de ameaça irónica sempre que falava com Patty, a favorita, a qual bicava a bota de March numa amigável demonstração de amizade.
Mas, apesar de tudo o que March fazia por elas, as aves não eram uma criação florescente em Bailey Farm. Quando, de acordo com os regras, começou a dar-lhes comida quente pela manhã, reparou que esta fazia com que ficassem pesadas e sonolentas durante horas. Ela quedava-se, expectante, vendo-as encostadas aos pilares do barracão durante o seu lento processo digestivo. E sabia muito bem que elas deviam andar atarefadas a esgravatar e a debicar por aqui e por ali, isto para haver esperanças de virem a tornar-se de alguma valia. Assim, decidiu passar a dar-lhes a comida quente só à noite, deixando que a digerissem durante o sono. E assim fez. Só que isso não surtiu qualquer efeito.
Por outro lado, os tempos de guerra em que viviam eram bastante desfavoráveis à criação de aves. A comida era escassa e má. E quando o Daylight Saving Bill1 entrou em vigor, as aves recusaram-se obstinadamente a ir dormir à hora habitual, por volta das nove no tempo de Verão. E, na verdade, isso já era bastante tarde, pois até elas estarem recolhidas e a dormir era impossível ter-se paz. Agora, andavam animadamente às voltas por ali, limitando-se de quando em vez a relancear os olhos para o celeiro, isto até por volta das dez horas ou mais. Mas tanto Banford como March discordavam de que a vida fosse só para trabalhar. Gostariam de ter tempo para ler ou para andar de bicicleta à tardinha, ou talvez mesmo March desejasse poder pintar cisnes curvilíneos em porcelanas de fundo verde ou fazer maravilhosos guarda-fogos através de processos do domínio da alta técnica da marcenaria. Pois ela era uma criatura cheia de estranhas fantasias e tendências insatisfeitas. Mas as estúpidas das aves impediam-na de tudo isso.
E havia um mal bem pior que tudo o resto. Bailey Farm era uma pequena fazenda com um velho celeiro de madeira e uma casa baixa, de telhado de empena, apenas separada da orla do bosque por um pequeno campo. Ora, desde a guerra que rondava por ali um raposo, raposo que se revelara um autêntico demónio. Apoderava-se das galinhas mesmo debaixo do nariz de March e Banford. Banford bem podia sobressaltar-se e olhar atentamente através dos seus grandes óculos, os olhos muito arregalados, ao levantar-se a seus pés um novo alvoroço de grasnidos, cacarejos e adejar de asas. Demasiado tarde! Outra galinha branca que se fora, outra Leghorn perdida. Era, de facto, desencorajador.
Elas fizeram o que puderam para remediar o caso. Quando chegou a época da caça às raposas, ambas passaram a postar-se de sentinela com as suas espingardas, escolhendo as horas preferidas pelo rapinante. Mas isso de nada lhes valeu. O raposo era demasiado rápido para elas. E assim se passou mais um ano, depois outro, enquanto elas continuavam a viver dos prejuízos, como Banford dizia. Um Verão, alugaram a sua casa da quinta e foram viver para um vagão ferroviário existente numa das extremidades do campo, ali deixado para servir como uma espécie de barracão de arrecadações. Isto divertiu-as, além de as ajudar a pôr as finanças em ordem. Não obstante, as coisas continuavam feias.
Ainda que continuassem a ser as melhores amigas do mundo, já que Banford, apesar de nervosa e de delicada, era uma alma quente e generosa, e March, apesar de parecer tão estranha e ausente, sempre tão concentrada em si mesma, se revelava dotada de uma curiosa magnanimidade, começaram, contudo, a descobrir, naquela longa solidão, uma certa tendência para se irritarem uma com a outra, para se cansarem uma da outra. March tinha quatro quintos do trabalho a seu cargo, e, apesar de não se importar, nunca conseguia ter descanso, pelo que nos seus olhos havia, por vezes, um curioso relampejar. Então, se Banford, sentindo os nervos mais esgotados do que nunca, tivesse um ataque de desespero, March falar-lhe-ia com rispidez. De algum modo, pareciam estar a perder terreno, a perder a esperança à medida que os meses iam passando. Ali sozinhas nos campos junto ao bosque, com toda aquela vasta região estendendo-se, profunda e sombria, até às colinas arredondadas do White Horse, perdidas na distância, pareciam ter de viver demasiado desligadas de si mesmas. Não havia nada que as animasse. E não havia esperança.
O raposo punha-as realmente exasperadas. Assim que deixavam as aves sair, ao alvorecer dos dias de Verão, tinham de ir buscar as armas e de ficar de guarda; e tinham de voltar ao mesmo assim que o entardecer se avizinhava, retomando os seus postos de sentinela. E ele era tão manhoso, tão dissimulado! Rastejava ao longo da erva alta, tão difícil de ver como uma serpente. Parecia mesmo evitar deliberadamente as raparigas. Uma ou duas vezes, March conseguira vislumbrar-lhe a ponta branca da cauda, por vezes mesmo a sua sombra avermelhada por entre a erva alta, e disparara sobre ele. Mas o raposo não ligara nenhuma ao sucedido.
Uma tarde, March estava de costas contra o sol, já a pôr-se no horizonte, com a arma debaixo do braço e o cabelo oculto sob o boné. Estava meio vigilante, meio absorta, perdida nos seus pensamentos. Aliás, tal estado era em si uma constante. Tinha os olhos abertos e vigilantes, mas lá bem no fundo da mente não tomava consciência daquilo que estava a ver. Deixava-se sempre cair neste estranho estado de alheamento, a boca ligeiramente crispada. Era um problema saber se estava realmente ali, de consciência desperta para o presente, ou muito longe daqueles locais.
As árvores na orla do bosque, de um verde--acastanhado, surgiam como uma mancha escura ressaltando à luz crua do dia; estava-se em fins de Agosto. Ao fundo, os tons acobreados dos troncos e ramos nus dos pinheiros refulgiam no ar. Mais perto, a erva selvagem, com os seus longos caules acastanhados e rebrilhantes, estava toda banhada de claridade. As galinhas andavam por ali, enquanto os patos estavam ainda a nadar na lagoa por debaixo dos pinheiros. March olhava para tudo aquilo, via tudo aquilo sem realmente se dar conta de nada. Ouviu Banford a falar às galinhas, lá ao longe, mas foi como se não ouvisse. Em que pensava? Só Deus o sabe. Como sempre, a sua consciência estava longe, ficara para trás.
Acabara de baixar os olhos quando, de repente, viu o raposo. E este estava a olhar para ela. Tinha o focinho descaído e os olhos levantados, fitando o espaço à sua frente. Então, os seus olhares encontraram-se. E ele reconheceu-a. Ela estava fascinada, como que enfeitiçada, sabendo que ele a reconhecia. Ele olhou-a bem dentro dos olhos e ela sentiu-se desfalecer, como se a alma lhe fugisse. Ele reconhecia-a, por isso não tinha medo.
Mas ela esforçou-se por reagir, recobrando confusamente o domínio de si mesma, enquanto o via afastar-se, aos saltos por sobre alguns ramos caídos, saltos lentos, vagarosos, descarados. Então, virando a cabeça, ele voltou a mirá--la mais uma vez e desapareceu depois numa corrida pausada, suave. Ela ainda lhe viu a cauda erguida, ondulando leve como uma pena, assim como as manchas brancas dos quadris, cintilando na distância. E assim se foi, suavemente, tão suave como o vento.
Ela levou então a arma ao ombro, e mais uma vez franziu os lábios num esgar, sabendo que era um disparate tentar disparar. Assim, começou a segui-lo devagar, avançando na direcção que ele tomara, lenta, obstinadamente. Tinha esperanças de o encontrar. No mais íntimo de si mesma, estava decidida a encontrá-lo. Não pensou naquilo que faria quando o voltasse a ver, mas estava decidida a encontrá-lo. E assim andou muito tempo pela orla do bosque, absorta, perdida, os olhos negros muito vivos, muito abertos, um ligeiro rubor nas faces quentes. Ia sem pensar. Numa estranha apatia, o cérebro vazio, vagueou de cá para lá.
Por fim, deu-se conta de que Banford estava a chamá-la. Esforçando-se por despertar, tentou dar atenção e, voltando-se, soltou uma espécie de grito à laia de resposta. E retomou então o caminho da fazenda, avançando a grandes passadas. O sol estava já a pôr-se, num brilho rubro, e as galinhas começaram a recolher aos poleiros. Ela olhou-as, um bando de criaturas pretas e brancas aglomerando-se junto ao celeiro. Como que enfeitiçada, olhou--as sem as ver. Mas a sua inteligência automatizada preveniu-a da altura em que devia fechar a porta.
Foi então para dentro, preparando-se para cear, pois Banford já pusera a comida na mesa. Banford tagarelava com grande à vontade. March fingia ouvi-la na sua maneira distante, varonil, dando lacónicas respostas de quando em vez. Mas esteve o tempo todo como debaixo de um sortilégio. E assim que a refeição acabou, voltou a levantar-se para sair, fazendo-o sem sequer dizer porquê. Levou outra vez a arma e foi em busca do raposo. Pois ele levantara os olhos para ela, ele reconhecera-a, e isso parecia ter-lhe penetrado o cérebro, dominando-a. Não pensava muito nele: estava possuída por ele. Ela reviu os seus olhos escuros, astutos, impassíveis, fitando-a lá bem no fundo, desvendando-a, olhos de quem sabia conhecê-la. E sentiu que ele possuía um domínio invisível sobre o seu espírito. Relembrou o modo como ele baixara a queixada ao olhar para ela, reviu-lhe o focinho, o castanho dourado, o branco acinzentado. E voltou a vê-lo virar a cabeça, o olhar furtivo que lhe deitou, meio convidativo, meio desdenhoso, algo atrevido também. E por isso foi, os grandes olhos espantados e cintilantes, a espingarda debaixo do braço, andando de cá para lá na orla do bosque. Entretanto, caiu a noite, pelo que uma lua enorme, redonda, começou a erguer-se por detrás dos pinheiros. Então, Banford voltou a chamá-la.
Assim, ela voltou para casa. Estava silenciosa, atarefada. Examinou e limpou a arma, perdida em abstractos devaneios, a mente divagando à luz da lâmpada. E depois voltou a sair, ao luar, para ver se estava tudo em ordem. Mas quando viu as cristas negras dos pinheiros recortadas no céu sanguíneo, o coração acelerou-se-lhe, de novo batendo pelo raposo, sempre pelo raposo. E teve vontade de retomar a sua busca, de espingarda na mão.
Passaram alguns dias antes de ela mencionar o caso a Banford. Então, uma tarde, disse de súbito:
- Na noite de sábado passado, o raposo esteve mesmo ao pé de mim.
- Onde? - disse Banford, abrindo muito os olhos por detrás dos óculos.
- Quando estava ao pé da lagoa.
- Deste-lhe um tiro? - gritou Banford.
- Não, não dei.
- Porque não?
- Bem, suponho que fiquei demasiado surpreendida, só isso.
Era esta a velha maneira de falar que March sempre tivera, lenta e lacónica. Banford observou a amiga por alguns instantes.
- Mas viste-lo? - exclamou ela.
- Claro que sim! Ele estava a olhar para mim, impávido e sereno, como se não fosse nada com ele.
- Não me digas! - gritou Banford. - Que descaramento! Não têm medo nenhum de nós, Nellie, é o que te digo.
- Lá isso não - disse March.
- Só é pena que não lhe tenhas dado um tiro - acrescentou Banford.
- Sim, é pena! Desde então que tenho andado à procura dele. Mas não creio que volte a aproximar-se tanto da próxima vez.
- Sim, também acho - concordou Banford. E esforçou-se por esquecer o caso, apesar de se sentir mais indignada do que nunca com o atrevimento daqueles ratoneiros. March também não tinha consciência de andar a pensar no raposo. Mas sempre que caía em meditação, sempre que ficava meio absorta, meio consciente daquilo que tinha lugar sob os seus olhos, então era o raposo que, de algum modo, lhe dominava o inconsciente, apossando-se da sua mente errante, disponível. E foi assim durante semanas, durante meses. Não interessava que estivesse a trepar às macieiras, a apanhar as últimas ameixas, a cavar o fosso da lagoa dos patos, a limpar o celeiro, pois quando se endireitava, quando afastava da testa as madeixas de cabelo, voltando a franzir a boca daquela forma estranha, crispada, que lhe era habitual, dando-lhe um ar demasiado envelhecido para a idade, era mais do que certo voltar a sentir o espírito dominado pelo velho apelo do raposo, tão vivo e intenso como quando ele a olhara. Nessas ocasiões, era quase como se conseguisse sentir-lhe o cheiro. E isso acontecia-lhe sempre nos momentos mais inesperados, quer à noite quando estava para se ir deitar, quer quando deitava água no bule para fazer chá: lá estava o raposo, dominando-a com o seu fascínio, enfeitiçando-a, subjugando-a.
E assim se passaram alguns meses. Inconscientemente, ela continuava a ir à procura dele sempre que se encaminhava para os lados do bosque. Ele tornara-se-lhe num estigma, numa impressão obsessiva, num estado de espírito permanente, não contínuo mas recorrente, em constante afluxo. Não sabia aquilo que sentia ou pensava: pura e simplesmente, um tal estado invadia-a, dominava-a, tal e qual como quando ele a olhara.
Os meses foram passando, chegaram as noites escuras, pesadas, chegou Novembro, sombrio, ameaçador, época em que March andava de botas altas, os pés mergulhados na lama até ao tornozelo, tempo em que às quatro horas já era de noite, em que o dia nunca chegava propriamente a nascer. Ambas as raparigas temiam aquele tempo. Temiam a escuridão quase contínua que as rodeava, sozinhas na sua pequena quinta junto ao bosque, triste e desolada. Banford tinha medo, um medo físico, concreto. Tinha medo dos vagabundos, receava que alguém pudesse aparecer por ali a rondar. March não tinha tanto medo, era mais uma sensação de desconforto, de turbação. Sentia por todo o corpo como que um constrangimento, uma melancolia, e isso, sim, também a afectava fisicamente.
Usualmente, as duas raparigas tomavam chá na sala de estar. Ao anoitecer, March acendia a lareira, deitando-lhe a madeira que cortara e serrara durante o dia. Tinham então pela frente a longa noite, sombria, húmida, escura lá fora, solitária e um tanto opressiva portas adentro, algo lúgubre mesmo. March preferia não falar, mas Banford não podia estar calada. Bastava-lhe ouvir o vento silvando lá fora por sobre os pinheiros ou o simples gotejar da chuva para ficar com os nervos arrasados.
Uma noite, depois de tomarem chá e lavarem as chávenas na cozinha, retornaram à sala. March pôs os seus sapatos de trazer por casa e pegou no trabalho de croché, coisa que fazia de vez em quando com grande lentidão. Depois, quedou-se silenciosa. Banford ficou diante da lareira, olhando o fogo rubro, pois este, sendo de lenha, exigia uma constante atenção. Estava com receio de começar a ler demasiado cedo, já que os seus olhos não suportavam grandes esforços. Assim, sentou-se a olhar o fogo, ouvindo os sons perdidos na distância, o mugido do gado, o monótono soprar do vento, pesado e húmido, o estrépito do comboio da noite na pequena linha férrea não muito longe dali. Começava a estar como que fascinada pelo fulgor sanguíneo do fogo que ardia.
Subitamente, ambas as raparigas se sobressaltaram, erguendo os olhos. Tinham ouvido passos, passos distintos, nítidos, sem margem para dúvidas. Banford encolheu-se toda com medo. March levantou-se e pôs-se à escuta. Depois, dirigiu-se rapidamente para a porta que dava para a cozinha. Precisamente nessa altura, ouviram os passos aproximarem-se da porta das traseiras. Esperaram uns instantes. Então, a porta abriu-se lentamente. Banford deu um grande grito. Depois, uma voz de homem disse em tom suave:
- Viva!
March recuou e pegou na espingarda encostada a um canto.
- O que é que quer? - gritou em voz aguda. E o homem voltou a falar na sua voz simultaneamente vibrante e suave:
- Ora viva! Há algum problema?
- Olhe que eu disparo! - gritou March. - O que é que quer?
- Mas porquê, qual é o problema? - respondeu ele, no mesmo tom brando, interrogativo, algo assustado agora. E um jovem soldado, com a pesada mochila às costas, penetrou na luz baça da sala. E disse então: - Ora esta! Mas então quem é que vive aqui?
- Vivemos nós - disse March. - O que é
que quer?
- Oh! - exclamou o jovem soldado, uma leve nota de dúvida na sua voz arrastada, melodiosa. - Então William Grenfel já não mora aqui?
- Não, e você bem sabe que não.
- Acha que sei? Bem vê que não. Mas ele viveu aqui, pois era meu avô, e eu mesmo vivia aqui há cinco anos atrás. Afinal, que foi feito dele?
O homem - ou melhor, o jovem, pois não devia ter mais de vinte anos - adiantara-se agora um pouco mais estando já do lado de dentro da porta. March, já sob a influência daquela voz, estranhamente branda, quedou-se, fascinada, a olhar a olhar para ele. Tinha um rosto redondo, avermelhado, com cabelos louros um tanto compridos colados à testa pelo suor. Os olhos eram azuis, muito vivos. Nas faces, sobre a pele fresca e avermelhada, florescia uma fina barba loura, quase como que uma penugem, mais espessa, dando-lhe um ar vagamente resplandecente. Com a pesada mochila às costas, estava algo inclinado, a cabeça atirada para a frente. Tinha o bivaque pendente de uma das mãos. Com olhos vivos e penetrantes, fitava ora uma ora outra das raparigas, e especialmente March, que permanecia de pé, muito pálida, os grandes olhos arregalados, de casaco cintado e grevas, o cabelo atado atrás num grande bando encrespado por sobre a nuca. Continuava de arma na mão. Atrás dela, Banford, agarrada ao braço do sofá, estava toda encolhida, a cabeça meio voltada como quem se preparava para fugir.
- Pensei que o meu avô ainda avô ainda aqui vivesse. Será que já morreu?
- Estamos aqui há três anos - disse Banford, a qual parecia estar agora a recobrar a presença de espírito, talvez por se aperceber de algo de pueril naquela face redonda, de cabelos compridos e suados.
- Três anos! Não me digam! E não sabem quem vivia aqui antes de vocês?
- Só sei que era um velho que vivia sozinho.
- Ah! Então era ele! E o que é que lhe aconteceu?
- Morreu. Só sei que morreu.
- Ah! Então é isso, morreu!
O jovem fitava-as sem mudar de cor ou expressão. E se havia no seu rosto qualquer expressão, para além de um ar ligeiramente confuso, interrogativo, isso devia-se a uma forte curiosidade relativamente às duas raparigas. Mas a
curiosidade daquela jovem cabeça arredondada, apesar de viva e penetrante, era uma curiosidade impessoal, objectiva, fria.
Porém, para March ele era o raposo. Se tal se devia ao facto de ter a cabeça deitada para a frente, ao brilho da fina barba prateada em torno dos malares róseos ou aos olhos vivos e brilhantes, não seria possível dizê-lo; contudo, para ela o rapaz era o raposo e era-lhe impossível vê-lo de outro modo.
- Como é possível que não soubesse se o seu avô estava vivo ou morto? - perguntou Ban-ford, recuperando a sua habitual sagacidade.
- Ah, pois, aí é que está - respondeu o jovem, com um leve suspiro. - Sabe, é que eu alistei-me no Canadá e já não tinha notícias dele há três ou quatro anos... Fugi para lá a fim de me alistar.
- E acabou agora de chegar de França?
- Bem... Não propriamente, pois, na verdade, vim de Salónica.
Houve uma pausa, ninguém sabendo ao certo o que dizer.
- Então agora não tem para onde ir? - disse Banford, algo desajeitadamente.
- Oh, conheço algumas pessoas na aldeia. E, de qualquer forma, sempre posso ir para a Estalagem do Cisne.
- Veio de comboio, suponho. Não quer descansar um bocado?
- Bom, confesso que não me importava nada.
Ao desfazer-se da mochila, emitiu um estranho suspiro, quase que um queixume. Banford olhou para March.
- Ponha aí a arma - disse. - Nós vamos fazer um pouco de chá.
- Ah, sim! - concordou o jovem. - Já vimos demasiadas espingardas.
Sentou-se então no sofá com um certo ar de cansaço, o corpo todo inclinado para a frente.
March, recuperando a presença de espírito, dirigiu-se para a cozinha. Aí chegada, ouviu o jovem monologando na sua voz suave:
- Ora quem diria que havia de voltar e vir encontrar isto assim!
Não parecia nada triste, absolutamente nada; tão-só um tanto ou quanto surpreso e interessado ao mesmo tempo.
- E como tudo isto está diferente, hem? - continuou, relanceando o olhar pela sala.
- Acha que está diferente, é? - disse Banford.
- Se está!... Isso salta à vista...
Os seus olhos eram invulgarmente claros e brilhantes, ainda que tal brilho mais não fosse do que mero reflexo de uma saúde de ferro.
Na cozinha, March andava de cá para lá, preparando outra refeição. Eram cerca de sete horas da tarde. Durante todo o tempo em que esteve ocupada, nunca deixou de prestar atenção ao jovem sentado na saleta, não tanto a ouvir aquilo que este dizia como a sentir o fluir suave e brando da sua voz. Comprimiu os lábios, apertando-os mais e mais, a boca tão cerrada como se estivesse cosida, numa tentativa para manter o domínio de si mesma. Contudo, sem que o pudesse evitar, os seus grandes olhos dilatavam-se, brilhantes, pois perdera já o seu autocontrole. Rápida e descuidadamente, preparou a refeição, cortando grandes fatias de pão e barrando-as com margarina, pois manteiga era coisa que não tinham. Deu voltas à cabeça a pensar no que mais poderia pôr no tabuleiro, já que só tinha pão, margarina e geleia na despensa quase vazia. Incapaz de descobrir fosse o que fosse, dirigiu-se para a sala com o tabuleiro.
Ela não queria chamar as atenções. E, acima de tudo, não queria que ele a olhasse. Mas quando entrou, atarefada a pôr a mesa por detrás dele, ele endireitou-se, espreguiçando--se, e voltou-se para olhar por cima do ombro. Ela empalideceu, sentiu-se quase desfalecer.
O jovem observou-a, debruçada sobre a mesa, olhou-lhe as pernas finas e bem feitas, o casaco cintado flutuando-lhe sobre as coxas, o bandó de cabelos negros, e mais uma vez a sua curiosidade viva e sempre alerta se deixou prender por ela.
A lâmpada estava velada por um quebra-luz verde-escuro, de modo que a luz incidia de cima para baixo, deixando a parte superior da sala envolta na penumbra. O rosto dele movia-se, brilhante, à luz do candeeiro, enquanto March surgia como uma figura difusa, perdida na distância.
Ela virou-se, mas manteve a cabeça de lado, os olhos piscando, rápidos, sob as pestanas negras. Descerrando os lábios, disse então a Banford:
- Não queres servir o chá? Depois, regressou à cozinha.
- Não quer tomar o chá onde está? - disse Banford para o jovem. - A menos que prefira vir para a mesa - acrescentou.
- Bom, sinto-me aqui muito bem, confortavelmente instalado. Se não se importa, prefiro tomá-lo aqui mesmo - respondeu ele.
- Só temos pão e geleia - disse então ela. E pôs-lhe o prato à frente, pousando-o num escabelo. Sentia-se bastante feliz por ter alguém a quem servir, pois adorava companhia. E agora já não tinha medo dele, encarava-o quase como se fosse o seu irmão mais novo, tão criança ele lhe parecia.
- Nellie! - gritou. - Tens aqui a tua chávena.
March surgiu então à entrada da porta, aproximou-se, pegou na chávena e foi-se sentar a um canto, tão longe da luz quanto possível. Sendo muito susceptível quanto aos joelhos, e dado não ter qualquer saia com que os cobrisse, sofria pelo facto de ter de estar assim sentada com eles tão ousadamente em evidência. Assim, encostou-se toda para trás, encolhendo-se o mais que pôde, na tentativa de não ser vista. Mas o jovem, preguiçosamente estirado no sofá, fitava-a com uma tal insistência, os olhos firmes e penetrantes, que ela quase desejou poder desaparecer. No entanto, manteve a chávena direita enquanto bebia o chá, de lábios apertados e cabeça virada. O seu desejo de passar despercebida era tão forte que quase intrigou o rapaz, pois ele sentia que não conseguia vê-la com nitidez. Ela mais parecia uma sombra entre as sombras que a rodeavam. E os seus olhos acabavam sempre por voltar a ela, inquiridores, persistentes, atentos, com uma fixidez quase inconsciente.
Enquanto isso, na sua voz calma e suave, ele conversava com Banford, para quem a tagarelice era tudo no mundo, além de ser dotada de uma aguda curiosidade, qual pássaro saltitante catando aqui e ali. Por outro lado, ele comeu desalmadamente, rápido e voraz, pelo que March teve de ir cortar mais fatias de pão com margarina, por cujo preparo grosseiro Banford se desculpou.
- Oh, tens cada uma! - disse March, saindo repentinamente do seu mutismo. - Se não temos manteiga para lhes pôr, não vale a pena preocuparmo-nos com a elegância das fatias.
O jovem voltou a olhá-la e, subitamente, riu-se, com um riso rápido, sacudido, mostrando assim os dentes sob o nariz franzido.
- Lá isso é verdade - respondeu ele, na sua voz suave, insinuante.
Parece que era da Cornualha, nado e criado aí. Ao fazer doze anos, viera para Bailey Farm com o avô, com o qual nunca se dera muito bem. Assim, tivera de fugir para o Canadá, tendo passado a trabalhar longe, no Oeste. Agora voltara e ali estava, eis toda a sua história.
Mostrava-se muito curioso quanto às raparigas, pretendendo saber exactamente em que é que se ocupavam. As questões que lhes punha eram típicas de um jovem fazendeiro: argutas, práticas e um tanto trocistas. Parecia ter ficado muito divertido com a atitude delas face aos prejuízos, pois achava-as particularmente cómicas quanto ao caso das vitelas e das aves.
- Oh, bem vê - interrompeu March -, nós não concordamos em viver só para trabalhar.
- Ah, não? - respondeu. De novo o rosto se lhe iluminou num sorriso pronto e jovial. E o seu olhar, firme e insistente, voltou a cravar-se na mulher sentada ao canto, na obscuridade.
- Mas o que pensam fazer quando o vosso capital chegar ao fim? - indagou.
- Oh, isso não sei - retorquiu March, laconicamente. - Oferecermo-nos para trabalhar nos campos, suponho eu.
- Sim, mas não deve haver assim grande procura de mulheres para trabalhar no campo, agora que a guerra acabou - volveu o jovem.
- Oh, isso depois se vê. Ainda nos poderemos aguentar durante mais algum tempo - retorquiu March, num tom de indiferença algo plangente, meio triste, meio irónico.
- Faz aqui falta um homem - disse o jovem suavemente. Banford desatou a rir, soltando uma gargalhada.
- Veja lá o que diz - interrompeu ela. - Nós consideramo-nos muito capazes.
- Oh! - disse March, na sua voz arrastada e dolente. - Receio bem que não seja um simples caso de se ser ou não capaz. Quem se quiser dedicar à lavoura, terá de trabalhar de manhã à noite, quase que terá mesmo de se animalizar.
- Sim, estou a ver - respondeu o jovem. - E vocês não querem meter-se nisso de pés e mãos.
- Não, não queremos - disse March - e temos consciência disso.
- Queremos ficar com algum tempo para nós mesmas - acrescentou Banford.
O jovem recostou-se no sofá, tentando conter o riso, um riso silencioso mas que o dominava completamente. O calmo desdém das raparigas deixava-o profundamente divertido.
- Está bem - volveu ele - mas então porque começaram com isto?
- Oh! - retorquiu March. - Acontece que antes tínhamos uma melhor opinião da natureza das galinhas do que a que temos agora.
- Creio bem que de toda a Natureza - disse Banford. - E digo-lhes mais: nem me falem da Natureza!
Mais uma vez o rosto do jovem se contraiu num riso delicado.
- Vocês não têm lá grande opinião de galinhas e de gado, pois não? - disse então ele.
- Oh, não! - disse March. - E até bastante pequena.
O jovem, não conseguindo conter-se, soltou uma sonora gargalhada.
- Nem de galinhas, nem de vitelos, nem de cabras, nem do tempo - rematou Banford.
O jovem irrompeu então num riso rápido, convulsivo, explodindo em divertidas gargalhadas. As raparigas começaram também a rir. March, virando o rosto, franziu a boca num esgar, um riso contido sob os lábios cerrados.
- Bom - disse Banford -> mas não nos ralamos muito com isso, pois não, Nellie?
- Não - disse March -> não nos ralamos. O jovem sentia-se ah muito bem. Comera e bebera bastante, saciara-se até estar cheio. Banford começou a interrogá-lo. Chamava-se Henry Grenfel. Não, Harry não, chamavam--lhe sempre Henry. E continuou a responder de um modo simples, cortês, num tom simultaneamente solene e encantador. March, que não participava no diálogo, olhava-o lenta e demoradamente do seu refúgio do canto, con-templando-o ali sentado no sofá, de mãos espalmadas nos joelhos, o rosto batido pela luz do candeeiro enquanto, virado para Banford, lhe dava toda a sua atenção. Por fim, quase que se sentia calma, em paz. Ela identificara-o com o raposo e ali estava ele, presença física, viva, integral. Já não precisava de andar atrás dele, de ir à sua procura. Perdida na sombra do seu canto, sentiu-se tomada de uma paz quente, relaxante, quase como se o sono a invadisse, aceitando aquele encantamento que a habitava. Mas desejava continuar oculta, despercebida. Só se sentia totalmente em paz enquanto ele continuasse a ignorá-la, conversando com Banford. Oculta na sombra do seu canto, já não tinha razão para se sentir dividida, para tentar manter vivos dois planos de consciência. Podia finalmente mergulhar por inteiro no odor do raposo.
Pois o jovem, sentado junto à lareira dentro do seu uniforme, enchia a sala de um odor simultaneamente vago mas distinto, um tanto indefinível mas algo semelhante ao de um animal selvagem. March não mais tentou escapar-lhe. Mantinha-se calma e submissa no seu canto, tão quieta e passiva como um qualquer animal na sua toca.
Finalmente, a conversa começou a esmorecer. O jovem, tirando as mãos dos joelhos, endireitou-se um pouco e olhou em volta. E de novo tomou consciência daquela mulher silenciosa, quase invisível no seu canto.
- Bom - disse, algo contrariado -> suponho que é melhor ir andando ou quando chegar ao Cisne já estão todos deitados.
- De qualquer modo, receio que já estejam todos na cama - disse Banford. - Parece que apanharam essa gripe que anda para aí.
- Ah, sim?! - exclamou ele. E ficou alguns instantes pensativo. - Bem - continuou -, em algum lado hei-de arranjar onde ficar.
- Eu ia dizer para cá ficar, só que... - começou Banford.
Virando-se então, ele olhou-a, a cabeça atirada para a frente.
- Como? - perguntou.
- Quero eu dizer, as convenções, sei lá... - explicou ela. Parecia um bocado embaraçada.
- Não seria muito próprio, não é assim? - disse ele, num tom surpreso mas gentil.
- Não pela nossa parte, é claro - respondeu Banford.
- E não pela minha - retorquiu ele, com ingénua gravidade. - Ao fim e ao cabo, de certa forma esta continua a ser a minha casa.
Banford sorriu ao ouvi-lo.
- Trata-se antes do que a aldeia poderá dizer - observou.
Houve uma ligeira pausa.
- O que é que achas, Nellie? - perguntou Banford.
- Eu não me importo - respondeu March no seu tom habitual, nítido e claro. - E, de qualquer forma, a aldeia não me interessa para nada.
- Ah, não? - disse o jovem, em voz rápida mas suave. - Mas porque o fariam? Quer dizer, de que poderiam eles falar?
- Oh, isso! - volveu March, no seu tom lacónico, plangente. - Facilmente descobririam qualquer coisa. Mas não interessa aquilo que eles possam dizer. Nós sabemos cuidar de nós próprias.
- Sem qualquer dúvida - respondeu o jovem.
- Bom, então se quiser fique por aqui - disse Banford. - O quarto dos hóspedes está sempre pronto.
O rosto dele iluminou-se-lhe de prazer.
- Se têm a certeza de que não será um grande incómodo - observou ele naquele tom de suave cortesia que o caracterizava.
- Oh, não é incómodo nenhum - responderam as raparigas.
Sorrindo, satisfeito, ele olhava, ora para uma ora para outra.
- E mesmo muito agradável não ter de voltar a sair, não é verdade? - acrescentou, agradecido.
- Sim, suponho que sim - disse Banford.
March saiu para ir tratar do quarto. Banford estava tão satisfeita e solícita como se fosse o seu irmão mais novo quem tivesse voltado de França. Aquilo era tão gratificante para ela como se tivesse de cuidar dele, de lhe preparar o banho, de lhe tratar das coisas e tudo o resto. A sua generosidade e afectividade naturais tinham agora em que se aplicar. E o jovem estava deliciado com toda aquela fraternal atenção. Mas sentiu-se algo perturbado ao lembrar-se de que March, apesar de silenciosa, também estava a trabalhar para ele. Ela era tão curiosa, tão silenciosa e apagada. Quase que tinha a impressão de que ainda não a vira bem. E sentiu que até poderia não a reconhecer se se cruzassem na estrada.
Naquela noite, March teve um sonho perturbador, particularmente vivo e agitado. Sonhou que ouvia cantar lá fora, um cântico que não conseguia entender, um cântico que errava à volta da casa, vagueando pelos campos, perdendo-se na escuridão. Sentiu-se tão emocionada que teve vontade de chorar. Decidiu-se então a sair e, de repente, soube que era ele, soube que era o raposo quem assim cantava. Confundia-se com o trigo, de tão amarelo e brilhante. Ela então aproximou-se dele, mas o raposo fugiu, deixando de cantar. Contudo, parecia-lhe tão perto que quis tocá-lo. Estendeu a mão, mas, de súbito, ele arremeteu, mordendo-lhe o pulso, e no mesmo instante em que ela recuou, o raposo, virando-se para fugir, já a preparar o salto, bateu-lhe com a cauda na cara, dando a sensação de que esta estava em fogo, tão grande foi a dor que sentiu, como se a boca tivesse ficado ferida, queimada. E acordou com aquela horrível sensação de dor, quedando-se, trémula, como se se tivesse realmente queimado.
Contudo, na manhã seguinte, já só se lembrava dele como de uma vaga recordação. Levantando-se, pôs-se logo a tratar da casa para ir depois cuidar das aves. Banford fora até à aldeia de bicicleta na esperança de conseguir comprar alguma comida, pois era naturalmente hospitaleira. Mas, infelizmente, naquele ano de 1918 não havia muita comida à venda. Ainda em mangas de camisa, o jovem, saindo do quarto, foi até ao rés-do--chão. Era novo e sadio, mas como andava com a cabeça atirada para a frente, fazendo com que os ombros parecessem levantados e algo recurvos, dava a sensação de sofrer de uma ligeira curvatura da espinha. Mas devia ser apenas uma questão de hábito, um jeito que apanhara, pois era jovem e vigoroso. Enquanto as mulheres estavam a preparar o pequeno-almoço, lavou-se e saiu.
Andou por todo o lado, olhando e examinando tudo com a maior atenção. Comparou o actual estado da quinta com aquilo que ela antes fora, pelo menos até onde conseguia lembrar-se, fazendo depois um cálculo mental do efeito das mudanças. Foi ver as galinhas e os patos, avaliando das condições em que estavam; observou o voo dos pombos-bravos, extremamente numerosos, que passavam no céu por cima de si; viu a macieira e as maçãs que, por demasiados altas, March não conseguira apanhar; reparou numa bomba de sucção que elas tinham tomado de empréstimo, presumivelmente para esvaziarem a grande cisterna de água doce situada junto ao lado norte da casa.
- Tudo isto está velho e gasto, mas não deixa de ser curioso - disse às raparigas ao sentar-se para tomar o pequeno-almoço.
Sempre que reflectia em qualquer coisa, havia nos seus olhos um brilho simultaneamente inteligente e pueril. Não falou muito, mas comeu até fartar. March manteve o rosto de lado, os olhos desviados o tempo todo. E também ela, naquele princípio de manhã, não tinha clara consciência da presença dele, ainda que algo no brilho do caqui que ele envergava lhe lembrasse o cintilante esplendor do raposo do seu sonho.
Durante o dia, as raparigas andaram por aqui e por ali, entregues às suas tarefas. Quanto a ele, de manhã dedicou-se à caça, tendo morto a tiro um coelho e um pato--bravo que voava alto, para os lados do bosque. Isto representava um apreciável contributo, dado a despensa estar mais que vazia. Deste modo, as raparigas acharam que já pagara a despesa feita. Contudo, ele não disse nada quanto a ir-se embora. De tarde, foi até à aldeia, tendo voltado à hora do chá. Tinha no rosto arredondado o mesmo olhar vivo, penetrante, alerta. Pendurou o chapéu no cabide num pequeno movimento bamboleante. A avaliar pelo seu ar pensativo, tinha qualquer coisa em mente.
- Bom - disse às raparigas enquanto se sentava à mesa. - O que é que eu vou fazer?
- O que quer dizer com isso? - perguntou Banford.
- Onde é que eu vou arranjar na aldeia um lugar para ficar? - esclareceu ele.
- Eu cá não sei - disse Banford. - Onde é que pensa ficar?
- Bem... - respondeu ele, hesitante. - No Cisne estão todos com a tal gripe e no Grade e Arado têm lá os soldados que andam na recolha de feno para o exército. Além disso, na aldeia, já há dez homens e um cabo aboletados em casas particulares, ao que me disseram. Não sei lá muito bem onde é que irei achar uma cama.
E deixou o assunto à consideração das raparigas. Não parecia muito preocupado, estava até bastante calmo. March, sentada com os cotovelos pousados na mesa e o queixo entre as mãos, olhava-o meio absorta, quase sem se dar conta. De súbito, ele ergueu os seus olhos azul-escuros, fixando-os abstractamente nos de March. Ambos estremeceram, surpreendidos. E também ele se retraiu, esboçando um ligeiro recuo. March sentiu o mesmo clarão furtivo, sarcástico, saltar daqueles olhos brilhantes quando ele desviou o rosto, o mesmo fulgor astuto, conhecedor, dos olhos escuros do raposo. E, tal como acontecera com o raposo, sentiu que aquele olhar lhe trespassava a alma, penetrando-a de lado a lado. Como presa de viva dor ou em meio a um sono agitado, a boca crispou-se-lhe, os lábios contraíram-se.
- Bom, não sei... - dizia Banford. Parecia algo relutante, como se receasse que estivessem a querer enganá-la, a querer impor-lhe qualquer coisa. Olhou então para March. Mas, dada a sua fraca visão, sempre algo turvada, mais não viu no rosto da amiga do que aquele seu ar meio abstracto de sempre.
- Porque é que não dizes nada, Nellie? - perguntou.
Mas March mantinha-se silenciosa, olhos arregalados e errantes, enquanto o jovem, como que fascinado, a observava de olhos fixos.
- Vamos, diz qualquer coisa - insistiu Banford. E March virou então ligeiramente a cabeça, como que a tomar enfim consciência das coisas ou, pelo menos, a tentar fazê-lo.
- Mas que esperas tu que eu diga? - perguntou em tom automático.
- Dá a tua opinião - disse Banford.
- Tanto se me dá, é-me indiferente - respondeu March.
E novo silêncio se instalou. Qual língua de fogo, uma luz pareceu brilhar nos olhos do rapaz, penetrante como uma agulha.
- Pois a mim também - disse então Banford. - Se quiser, pode ficar por cá.
Acto contínuo, quase que involuntariamente, um sorriso perpassou pelo rosto do rapaz, uma súbita chama de astúcia a iluminá-lo. Baixando rapidamente a cabeça, escondeu-a então nas mãos e assim ficou, cabeça baixa, rosto oculto.
- Como disse, se quiser pode cá ficar. Faça como entender, Henry - rematou Banford.
Mas ele continuava sem responder, insistindo em permanecer de cabeça baixa. Por fim, ao erguer o rosto, havia neste um estranho brilho, como se naquele momento todo ele exultasse, enquanto observava March com olhos estranhamente claros, transparentes. Esta desviou o rosto, um ricto de dor na boca crispada, quase como se ferida, a consciência toldada, presa de confusa turvação.
Banford começou a sentir-se um pouco intrigada. Viu os olhos do jovem fitos em March, olhos firmes, decididos, quase que transparentes, o rosto iluminado por um sorriso imperceptível, mais adivinhado do que real. Ela não percebia como é que ele podia estar a sorrir, pois as suas feições afectavam uma imobilidade de estátua. Tal parecia provir do brilho, quase que do fulgor que dimanava da fina barba daquelas faces. Então, ele olhou finalmente para Banford, mudando sensivelmente de expressão.
- Não tenho dúvidas - disse, na sua voz suave, cortês - de que você é a bondade em pessoa. Mas é demasiada generosidade da sua parte. Bem sei que isso seria um grande incómodo para si.
- Corta um bocado de pão, Nellie - disse Banford, algo constrangida. E acrescentou: - Não é incómodo nenhum, pode ficar à vontade. É como se tivesse aqui o meu irmão a passar alguns dias. Ele é quase da sua idade.
- É demasiada bondade da sua parte - repetiu o rapaz. - Terei todo o gosto em ficar se estiver certa de que não incomodo.
- Não, não incomoda nada. Digo-lhe mais: é mesmo um prazer ter aqui alguém para nos fazer companhia - respondeu a bondosa Banford.
- E quanto a Miss March? - perguntou ele com toda a suavidade, olhando para ela. - Oh, por mim não há problema, está tudo bem - respondeu March num tom vago, abstracto.
O rosto radiante, ele quase esfregou as mãos de satisfação.
- Bom - disse -, nesse caso, terei todo o gosto em ficar, isto se me permitirem que pague a minha despesa e as ajude com o meu trabalho.
- Não precisa de pagar, isto aqui não é pensão - atalhou Banford.
Passado um dia ou dois, o jovem continuava na quinta. Banford estava encantada com ele. Sempre que falava, fazia-o de uma forma suave e cortês, nunca querendo monopolizar a conversa, preferindo antes ouvir aquilo que ela tinha para dizer e rindo-se depois com o seu riso rápido, sacudido, um tanto trocista por vezes. E ajudava-as de boa vontade no trabalho, pelo menos desde que este não fosse muito. Gostava mais de andar por fora, sozinho com a sua espingarda, sempre atento e observador, olhando para tudo com olhos de ver. Pois lia-se-lhe nos olhos ávidos uma insaciável curiosidade por tudo e todos, donde sentir-se mais livre quando o deixavam só, sempre meio escondido em observação, alerta e vigilante.
E era March quem mais gostava de observar, pois o seu estranho carácter intrigava-o e atraía-o ao mesmo tempo. Por outro lado, sentia-se seduzido pela sua silhueta esguia, pelo seu porte grácil, algo masculino. Sempre que a olhava, os seus olhos negros atingiam-no no mais íntimo de si mesmo, faziam-no vibrar de júbilo, despertavam em si uma curiosa excitação, excitação que receava deixar transparecer, tão viva e secreta ela era. E depois aquela sua estranha forma de falar, inteligente e arguta, dava-lhe uma franca vontade de rir. Naquele dia, sentiu que devia ir mais longe, que havia algo a impeli-lo irresistivelmente para ela. Contudo, afastando-a do pensamento, recalcou tais impulsos e saiu porta fora, dirigindo-se para a orla do bosque de espingarda na mão.
Estava já a anoitecer quando se decidiu a voltar para casa, tendo entretanto começado a cair uma daquelas chuvas finas de fins de Novembro. Olhando em frente, viu a luz da lareira bruxuleando por detrás dos vidros da janela da sala, tremular aéreo em meio ao pequeno aglomerado dos edifícios escuros.
E pensou para consigo que não seria nada mau ser dono daquele lugar. E então, insinuando-se maliciosamente, surgiu-lhe a ideia: e porque não casar com March? Totalmente dominado por aquela ideia, quedou-se algum tempo imóvel no meio do campo, o coelho morto pendendo-lhe da mão. Num fervilhar expectante, a sua mente trabalhava, reflectindo, ponderando, calculando, até que finalmente ele sorriu, uma curiosa expressão de aquiescência estampada no rosto. Pois porque não? Sim, realmente porque não? Até era uma boa ideia. Que importava que isso pudesse ser um tanto ridículo? Sim, que importância tinha isso? E que importava que ela fosse mais velha do que ele? Nada, absolutamente nada. E ao pensar nos seus olhos negros, olhos assustados, vulneráveis, sorriu maliciosamente para consigo. Na verdade, ele é que era mais velho do que ela. Dominava-a, era o seu senhor.
Mas até mesmo a seus olhos lhe custava a admitir tais intenções, até mesmo para si estas continuavam secretas, ocultas algures num qualquer surdo recesso da mente. Pois, de momento, ainda era tudo muito incerto. Teria de aguardar o desenrolar dos acontecimentos, ver qual a sua evolução. Sim, tinha de ser paciente. Se não fosse cuidadoso, arriscava-se a que ela, pura e simplesmente, escarnecesse de uma tal hipótese. Pois ele sabia, astuto e sagaz como era, que se fosse ter com ela para lhe dizer assim de chofre: "Miss March, amo-a e quero casar consigo", a resposta dela seria inevitavelmente: "Desapareça. Não quero saber dessas palermices." Seria certamente essa a sua atitude para com os homens e as suas "palermices". Se não fosse cuidadoso, ela dominá-lo-ia, cobri-lo-ia de ridículo no seu tom selvagem, sarcástico, pô-lo-ia fora da quinta, expulsá-lo-ia para sempre do seu próprio espírito. Tinha de ir devagar, suavemente. Teria de a apanhar como quem apanha um veado ou uma galinhola quando vai à caça. De nada serve entrar floresta adentro para dizer ao veado: "Por favor, põe-te na mira da minha espingarda." Não, trata-se antes de uma luta surda, paciente, subtil. Quando se quer de facto ir apanhar um veado, temos de começar por nos concentrarmos, por nos fecharmos sobre nós próprios, dirigindo-nos depois silenciosamente para as montanhas, antes mesmo do amanhecer. Quando se vai caçar, o importante não é tanto aquilo que se faz, é mais aquilo que se sente. Há que ser subtil, astuto, há que estar sempre pronto, ser absolutamente determinado, resoluto no avançar, fatal como o destino. Pois tudo se passa como se mais não houvesse do que um simples destino a cumprir. O nosso próprio destino comanda e determina o destino do veado que se anda a caçar. Em primeiro lugar, antes mesmo de vermos a caça, trava-se uma estranha batalha, uma batalha mesmérica, de magnetismo contra magnetismo. A nossa própria alma, como um caçador, partiu já em busca da alma do veado, e isto mesmo antes de vermos qualquer veado. E a alma do veado luta para lhe escapar. E assim que tudo se passa, antes mesmo de o veado ter captado o nosso cheiro. Trava-se então uma batalha de vontades, subtil, profunda, uma batalha que tem lugar no mundo do invisível. Batalha que só acaba quando a nossa bala atinge o alvo. E quando se chega realmente ao verdadeiro clímax, quando a caça surge por fim na nossa linha de tiro, não vamos então apontar como quando praticamos tiro ao alvo contra uma garrafa. Pois nessa altura é a nossa própria vontade que realmente conduz a bala até ao coração da caça. O voo da bala, directa ao alvo, não passa de uma débil projecção do nosso próprio destino no destino do veado. Tudo acontece enquanto expressão de um supremo desejo, de um supremo acto da vontade, não enquanto demonstração de uma simples habilidade, mera astúcia ou esperteza.
No fundo, ele era um caçador, não um fazendeiro, não um soldado com espírito de regimento. E era como jovem caçador que desejava apanhar March, transformá-la na sua presa, fazer dela sua mulher. Assim, fechou-se subtilmente sobre si mesmo, numa tão grande concentração interior que quase parecia desaparecer numa espécie de invisibilidade. Não estava muito certo de como deveria avançar. Além de que March era mais desconfiada do que uma lebre. Deste modo, decidiu continuar na aparência como aquele jovem desconhecido, estranho e simpático, em estada de quinze dias naquela casa. Naquele dia, passara a tarde a cortar lenha para a lareira. Escurecera muito cedo. Além disso, pairava no ar uma névoa fria e húmida. Quase que já estava demasiado escuro para se ver fosse o que fosse. Um monte de pequenos toros já serrados jazia junto a uma banqueta. March chegou para levar alguns para dentro de casa e outros para o telheiro, enquanto ele se preparava para serrar o último toro. Estava a trabalhar em mangas de camisa, não tendo notado a chegada dela. Ela aproximou-se com uma certa relutância, quase como que a medo. E então ele viu-a curvada sobre os toros recém-cortados, de arestas vivas, aguçadas, e parou de serrar. Como um relâmpago, sentiu um fogo subir-lhe pelas pernas, abrasando-lhe os nervos.
- March? - inquiriu, na sua voz jovem e calma.
Ela olhou por cima dos toros que estava a empilhar.
- Sim? - respondeu.
Ele tentou vê-la através da escuridão, mas não conseguia distingui-la lá muito bem.
A sua imagem chegava-lhe algo esbatida, de contornos vagos, indistintos.
- Quero perguntar-lhe uma coisa - disse então.
- Ah, sim? E o que é? - volveu ela. E havia já na sua voz um certo medo. Mas continuava perfeitamente senhora de si.
- Ora, diga-me - começou ele em tom insinuante, numa voz suave, subtil, penetran-do-lhe os nervos, arrepiando-a. - Que pensa que seja?
Ela endireitou-se, de mãos nas ancas, e ficou a olhar para ele sem responder, como que petrificada. E ele voltou a sentir-se tomado de uma súbita sensação de poder.
- Pois bem - disse, havendo na sua voz uma tal suavidade que mais parecia um leve toque, um simples aflorar, quase como quando um gato estende a pata numa imperceptível carícia, surgindo mais como um sentimento do que como um som. - Pois bem, queria pedir-lhe para casar comigo.
Mais do que ouvir, March sentiu dentro de si o eco daquela frase. Mas era em vão que tentava desviar o rosto. Uma profunda lassidão pareceu então invadi-la. Ficou de pé, silenciosa, a cabeça levemente inclinada para um lado. Ele parecia estar a curvar-se para ela, um sorriso invisível no rosto atento. E ela teve a sensação de que todo ele cintilava, rápidas faíscas dardejando do seu corpo imóvel.
Em tom rápido e abrupto, respondeu então:
- Não me venha para cá com essas palermices.
O rapaz sobressaltou-se, um espasmo nos nervos tensos, contraídos. Soube que falhara o golpe. Quedou-se então uns instantes calado tentando ordenar as ideias. Depois, pondo na sua voz toda aquela estranha suavidade tão peculiar, disse como que num afago, numa quase imperceptível carícia:
- Mas não é palermice nenhuma. Não, não é palermice. Estou a falar a sério, muito a sério. Porque é que não acredita em mim?
Parecia ferido, quase que ofendido. E a sua voz exercia um curioso poder sobre ela, dando-lhe uma sensação de liberdade, de descontracção. Algures dentro de si, ela tentava lutar, debatendo-se em busca das forças que lhe fugiam. Por um momento, sentiu-se perdida, irremediavelmente perdida. Como que moribunda, as palavras tremiam-lhe na boca, teimavam em não sair. De repente, a fala voltou-lhe.
- Você não sabe o que está a dizer! - exclamou, um leve e passageiro tom de escárnio palpitando-lhe na voz. - Mas que disparate! Tenho idade para ser sua mãe.
- Sim, sei muito bem o que estou a dizer. Sei, sim, sei muito bem o que estou a dizer - insistiu ele com enorme suavidade, como se quisesse que ela sentisse no sangue toda a força da sua voz. - Tenho plena consciência daquilo que estou a dizer. E você não tem idade para ser minha mãe, sabe muito bem que isso não é verdade. E mesmo que assim fosse, que importava isso? Pode muito bem casar comigo tenha lá a idade que tiver. Que me importa a idade? E que lhe importa isso a si? A idade não interessa!
Sentiu-se tomada de uma súbita tontura, quase que a desfalecer, quando ele acabou de falar. Ele falava rapidamente, naquela maneira rápida de falar que tinham na Cornualha, e a sua voz parecia ressoar algures dentro dela, lá onde se sentia totalmente impotente contra isso. "A idade não interessa!" Aquela insistência, como ele a dissera, suave e ardente ao mesmo tempo, dava-lhe uma estranha sensação e, por instantes, ali perdida na escuridão, sentiu-se quase a cambalear. E não foi capaz de responder.
Ele exultou, os membros ardendo-lhe, frementes, tomados de incontível júbilo. Sentiu que ganhara a partida.
- Bem vê que quero casar consigo. Porque é que não havia de o querer? - continuou ele, no seu jeito rápido e suave. E ficou à espera de uma resposta. Em meio à escuridão, ela parecia-lhe quase fosforescente. De pálpebras cerradas, o rosto meio de lado, tinha um ar ausente, abstracto. Parecia dominada pelo seu poder, submissa, quase que vencida. Mas ele aguardou, prudente e alerta. Ainda não ousava tocar-lhe.
- Diga lá que sim - volveu ele. - Diga que casa comigo. Vá, diga!... - Falava agora num tom de suave insistência.
- O quê? - perguntou então ela, numa voz frouxa, distante, como de alguém presa de viva dor. A voz do rapaz tornara-se agora incrivelmente meiga, cada vez mais suave. Ele estava agora muito perto dela.
- Diga que sim.
- Não, não posso! - gemeu ela, desamparada, mal articulando as palavras, quase que num estado de semi-inconsciência, como alguém nas vascas da agonia. - Como seria isso possível?
- Claro que pode - respondeu ele com meiguice, pousando-lhe suavemente a mão no ombro enquanto ela permanecia de pé, atormentada e confusa, o rosto de lado, a cabeça descaída. - Pode, claro que pode. Porque diz que não pode? Pode, bem sabe que pode. - E, com extrema ternura, curvou-se para ela, tocando-lhe no pescoço com o queixo, pousando-lhe os lábios, a boca.
- Não, não faça isso! - gritou ela, um grito frouxo, incontrolado, quase que histérico, escapando-se para depois o encarar. - O que quer dizer com isso? - acrescentou ainda. Mas não tinha forças para continuar a falar. Era como se já estivesse morta.
- Exactamente aquilo que disse - insistiu ele, com cruel suavidade. - Quero que case comigo. E isso mesmo, quero que case comigo. Agora já entendeu, não é assim? Já entendeu? Já? Diga que sim...
- O quê? - perguntou ela.
- Se já entendeu?... - replicou ele.
- Sim - respondeu ela. - Sei aquilo que disse.
- E sabe que falo a sério, não sabe?
- Sei aquilo que disse, nada mais.
- E acredita em mim? - perguntou ele então.
Ela quedou-se algum tempo silenciosa. Depois, de rosto tenso, os lábios crisparam-se--lhe, a boca contraiu-se.
- Não sei em que deva acreditar - disse.
- Estão aí fora? - perguntou então uma voz. Era Banford, chamando de dentro de casa.
- Sim, íamos agora levar a lenha - respondeu ele.
- Pensei que se tivessem perdido - disse Banford, num tom algo desconsolado. - Despachem-se, fazem favor, para virem tomar o chá. A chaleira já está a ferver.
Curvando-se de imediato para pegar numa braçada de lenha, ele levou-a então para a cozinha, onde costumavam empilhá-la a um canto. March também ajudou, enchendo os braços de cavacos e transportando-os de encontro ao peito como se carregasse consigo uma criança pesada e gorda. A noite caíra entretanto, fria e húmida.
Depois de levarem toda a lenha para dentro, os dois limparam ruidosamente as botas na grade exterior, esfregando-as depois no tapete. March fechou então a porta e tirou o seu velho chapéu de feltro, o seu chapéu de fazendeira. O cabelo negro, encrespado e espesso, tombava-lhe, solto, sobre os ombros, contrastando com as faces pálidas e cansadas. Com um ar ausente, atirou distraidamente o cabelo para trás e foi lavar as mãos. Banford entrou apressadamente na cozinha mal iluminada a fim de ir buscar os scones1 que deixara no forno a aquecer.
- Mas que diabo estiveram vocês a fazer até agora? - perguntou ela em tom azedo. - Já pensava que nunca mais vinham. E há que tempos que você parou de serrar. Que estiveram vocês a fazer lá fora?
- Bem - disse Henry -, estivemos a tapar aquele buraco no celeiro para os ratos não entrarem.
- Ora essa! Mas eu vi-os no telheiro. Você estava de pé, em mangas de camisa - objectou Banford.
- Sim, nessa altura eu tinha ido arrumar a serra.
Tomaram então o chá. March estava muito calada, um ar absorto no rosto pálido e cansado. O jovem, sempre de rosto corado e ar reservado, como que a vigiar-se a si mesmo, estava a tomar o chá em mangas de camisa, tão à vontade como se estivesse em sua casa. Debruçando-se sobre o prato, comia com toda a sem-cerimónia.
- Não tem frio? - perguntou Banford em tom maldoso. - Assim em mangas de camisa...
Ele olhou para ela, ainda com o queixo junto ao prato, observando-a com olhos claros, transparentes. Fitava-a com o mesmo ar imperturbável de sempre.
- Não, não tenho frio - respondeu ele com a sua habitual cortesia, no seu tom suave e modulado. - Está muito mais quente aqui do que lá fora, sabe...
- Espero bem que sim - retrucou Banford, sentindo que ele a estava a provocar. Aquela estranha e suave autoconfiança que ele tinha, aquele seu olhar brilhante e profundo, contendiam-lhe com os nervos naquela noite.
- Mas talvez - disse ele, suave e cortês - não goste de que eu venha tomar chá sem casaco. Não me lembrei disso.
- Oh, não, não me importo - disse Banford, embora de facto se importasse.
- Não acha que será melhor ir buscá-lo? - perguntou ele.
Os olhos escuros de March viraram-se lentamente para ele.
- Não, não se incomode - disse, num estranho tom nasalado. - Se se sente bem como está, pois deixe-se estar. - Falara de uma forma friamente autoritária.
- Sim - respondeu ele -, sinto-me bem, isto se não estou a ser descortês...
- Bom, isso é normalmente considerado como sinal de má educação - disse Banford. - Mas nós não nos importamos.
- Deixa-te disso! "Considerado sinal de má educação"... - exclamou March, algo intempestiva. - Quem é que considera isso sinal de má educação?
- Ora essa, Nellie! Consideras tu! E até agora sempre o disseste em relação a toda a gente!... - disse Banford, empertigando-se um pouco por detrás dos óculos e sentindo a comida atravessar-se-lhe na garganta.
Mas March voltara a ter aquele seu ar vago e ausente, mastigando a comida como se não tivesse consciência de o estar a fazer. E o jovem observava as duas com olhos vivos e atentos.
Banford sentia-se ofendida. Pois, apesar de toda aquela suavidade e cortesia com que ele sempre falava, o jovem parecia-lhe ser mas era um grande descarado. E não gostava de olhar para ele. Não gostava de encarar aqueles olhos claros e vivos, aquele estranho fulgor que sempre tinha no rosto, aquela barba fina e delicada que lhe ornava as faces, aquela pele estupidamente vermelhusca que, contudo, parecia sempre incendiada por um estranho calor de vida. Quase que se sentia doente ao olhar para ele. Pois a qualidade da sua presença física era demasiado penetrante, demasiado ardente.
Depois do chá, o serão era sempre muito calmo. O jovem raramente saía, raramente ia até à aldeia. Por via de regra, costumava ficar a ler, pois era um grande leitor nas horas vagas. Isto é, quando começava, deixava-se absorver totalmente pela leitura. Mas nunca tinha muita pressa de começar. Muitas vezes, saía para dar longos e solitários passeios pelos campos, seguindo rente às sebes, envolto no negrume da noite. Demonstrava um singular instinto pela noite, vagueando, confiante, enquanto escutava os sons selvagens que lhe chegavam.
Contudo, naquela noite, tirou um livro do capitão Mayne Reid1 da estante de Banford e, sentando-se de joelhos escarranchados, mergulhou na leitura da história. O seu cabelo, de um louro-acastanhado, era um tanto comprido, assentando-lhe na cabeça como um grosso boné, apartado ao lado. Estava ainda em mangas de camisa e, debruçado para a frente sob a luz do candeeiro, com as pernas abertas e o livro na mão, todo o seu ser absorvido no esforço assaz estrénuo da leitura, dava à sala de estar de Banford um ar de quarto de arrumações. E isso irritava-a, ofendia-a. Pois no chão da sala tinha um tapete turco de cor vermelha e franjas negras, a lareira possuía azulejos verdes, de muito bom gosto, o piano estava aberto com a última música de dança encostada ao tampo - ela tocava muito bem, aliás - e nas paredes viam-se cisnes e nenúfares, pintados à mão por March. Além disso, com as achas a arderem trémula e suavemente, o fogo crepitando na grade da lareira, com os espessos cortinados corridos e as portas fechadas, em contraste com o vento que uivava lá fora, fazendo estremecer os pinheiros, a sala era confortável, elegante e bonita. E ela detestava a presença daquele jovem rude, alto e de grandes pernas, as joelheiras de caqui muito espetadas sob o tecido repuxado, para ali sentado com os punhos da sua camisa de soldado abotoados à volta dos grossos pulsos vermelhaços. De tempos a tempos, ele virava uma página, lançando de ora em vez um rápido olhar ao fogo que ardia e ajeitando as achas. Depois, voltava a mergulhar na solitária e absorvente tarefa da leitura.
March, na ponta mais afastada da mesa, fazia o seu croché de uma forma rápida, sacudida.
Tinha a boca estranhamente contraída, como quando sonhara que a cauda do raposo lhe queimava os lábios, o seu belo cabelo negro encaracolado caindo-lhe em madeixas ondulantes. Mas toda ela parecia perdida numa aura de devaneio, como se na verdade estivesse muito longe dali. Numa espécie de sonho acordado, parecia-lhe ouvir o regougar do raposo no vento que assobiava à volta da casa, um cântico selvagem e doce como uma louca obsessão. Com as suas mãos rosadas e bem feitas, desfiava vagarosamente o algodão branco num croché lento, desajeitado.
Banford, sentada na sua cadeira baixa, tentava igualmente ler. Mas sentia-se algo nervosa no meio daqueles dois. Não parava de se mexer e de olhar em volta, ouvindo o sibilar do vento enquanto espreitava furtivamente ora um ora outro dos seus companheiros. March, de costas direitas contra o espaldar da cadeira, as pernas cruzadas sob as calças justas, entregue ao seu croché lento, laborioso, também a deixava preocupada.
- Oh, meu Deus! - exclamou Banford. - Os meus olhos não estão nada bons esta noite. - E esfregava-os com os dedos.
O jovem levantou a cabeça, fitando-a com olhos claros e vivos, mas nada disse.
- Ardem-te, é, Bill? - perguntou March distraidamente.
O jovem recomeçou então a ler e Banford viu-se obrigada a voltar ao seu livro. Mas não conseguia estar quieta. Ao fim de algum tempo, olhou para March, um estranho sorriso maldoso desenhando-se-lhe no rosto magro.
-Um penny1 pelos teus pensamentos, Nellie - disse, de súbito.
March olhou em volta com um ar espantado, os olhos negros muito abertos, tornando--se então muito pálida, como se tomada de pânico. Tinha estado a ouvir o cântico do raposo, elevando-se nos ares com uma tão profunda, inacreditável ternura, enquanto ele errava em torno da casa.
- O quê? - perguntou num tom abstracto.
- Um penny pelos teus pensamentos - repetiu Banford, sarcástica. - Ou até mesmo dois, se forem assim tão profundos.
O jovem, do seu canto sob o candeeiro, observava-as com olhos vivos e brilhantes.
- Ora - volveu March, na sua voz ausente -, porque hás-de desperdiçar assim o teu dinheiro?
- Achei que talvez fosse bem gasto - replicou Banford.
- Não estava a pensar em nada de especial, apenas no soprar do vento à volta da casa - disse então March.
- Oh, céus! - retorquiu Banford. - Até eu podia ter tido um pensamento tão original como esse. Desta vez, receio bem ter desperdiçado o meu dinheiro.
- Bom, não precisas de pagar - disse March.
De repente, o jovem pôs-se a rir. Ambas as mulheres olharam então para ele, March com um certo ar de surpresa, corr� se só então se desse conta da sua presença.
- Mas então costumam sempre pagar em tais ocasiões? - perguntou ele.
- Oh, claro - disse Banford. - Pagamos sempre. Houve alturas em que tive de pagar à Nellie um xelim por semana, isto no Inverno, pois no Verão fica muito mais barato.
- O quê? Mas então pagam pelos pensamentos uma da outra? - disse o jovem, rindo.
- Sim, quando já não há absolutamente mais nada com que nos entretermos.
Ele ria por acessos, de uma forma brusca, sacudida, franzindo o nariz como um cachorrinho, um vivo prazer no riso dos olhos brilhantes.
- É a primeira vez que oUço falar em tal coisa - disse então.
- Acho que já a teria ouvido muitas vezes se tivesse de passar um Inverno em Bailey Farm - retrucou Banford err tom lastimoso.
- Mas então aborrecem-se assim tanto? - perguntou ele.
- Mais do que isso! - exclamou Banford.
- Oh! - disse ele com ar grave. - Mas por que é que se hão-de aborrecer?
E quem não se aborreceria? - respondeu Banford.
-- Lamento muito saber disso - disse cu Ião ele com solene gravidade.
- E é mesmo de lamentar, especialmente He pensa que se vai divertir muito por aqui - volveu Banford.
Ele olhou-a demoradamente, um ar de seriedade estampado no rosto.
- Bom - disse, com aquela sua jovem e estranha gravidade -, por mim sinto-me aqui muito bem, até me divirto bastante.
- Pois folgo em ouvi-lo - retrucou Banford. E voltou ao seu livro. Apesar de ainda não ter trinta anos já se viam nos seus cabelos finos, algo frágeis e ralos, muitos fios grisalhos. O rapaz, não tendo baixado os olhos para o livro, fitava agora March, que permanecia sentada entregue ao seu laborioso croché, os olhos esbugalhados e ausentes, a boca crispada. Tinha uma pele quente, ligeiramente pálida e fina, um nariz delicado. A boca crispada dava-lhe um ar azedo. Mas esse aparente azedume ira contrariado pelo curioso arquear das sobrancelhas negras, pela amplitude do seu olhar, um ar de maravilha e incerteza nos olhos espantados. Estava outra vez a tentar ouvir o raposo, que entretanto parecia ter-se afastado, errando agora nas lonjuras da noite.
O rapaz, sentado junto ao candeeiro, o rosto erguido assomando por sob o rebordo do quebra-luz, observava-a em silêncio, um ar atento nos olhos arredondados, muito vivos e claros. Banford, mordiscando os dedos, irritada, olhava-o de soslaio por entre os cabelos caídos. Quedando-se sentado numa imobilidade de estátua, o rosto avermelhado inclinado por sob a luz para emergir um pouco abaixo desta no limiar da penumbra, ele continuava a observar March com um ar de absorta concentração. Esta, erguendo subitamente os grandes olhos negros do croché, olhou-o por seu turno. E, ao encará-lo, soltou uma pequena exclamação de sobressalto.
- Lá está ele! - gritou de modo involuntário, como alguém terrivelmente assustado.
Banford, estupefacta, passeou os olhos pela sala, endireitando-se na cadeira.
- Mas o que é que te deu, Nellie? - exclamou ela.
Mas March, um leve tom rosa nas faces ruborizadas, estava a olhar para a porta.
- Nada! Nada! - respondeu de mau modo. - Já não se pode falar?
- Pode, claro que pode - disse Banford. - Desde que tenha algum sentido... Mas que querias tu dizer?
- Não sei, não sei o que quis dizer - replicou March, impaciente.
- Oh, Nellie, espero que não estejas a tornar-te - nervosa e irritável. Sinto que não poderia suportá-lo! Mais isso, não! - disse a pobre Banford, num ar assustado. - Mas a quem te referias? Ao Henry?
- Sim, suponho que sim - declarou March, lacónica. Nunca teria tido coragem de falar do raposo.
- Oh, meu Deus! Esta noite estou com os nervos arrasados - lamentou-se Banford.
Às nove horas, March trouxe um tabuleiro com pão, queijo e chá, pois Henry declarara preferir uma chávena de chá. Banford bebeu um copo de leite acompanhado com um pouco de pão. E mal acabara ainda de comer quando disse:
- Vou-me deitar, Nellie. Esta noite estou uma pilha de nervos. Não vens também?
- Sim, vou já, é só o tempo de ir arrumar o tabuleiro - respondeu March.
- Não te demores, então - disse Banford, algo agastada. - Boa noite, Henry. Se for o último a subir, não se esqueça do lume, está bem?
- Sim, Miss Banford, não me esquecerei, esteja descansada - replicou ele em tom tranquilizador.
Enquanto Banford subia as escadas já de palmatória na mão, March acendia entretanto uma vela a fim de ir até à cozinha. Ao voltar à sala, aproximou-se da lareira e, virando-se para ele, disse-lhe:
- Suponho que podemos contar consigo para apagar o lume e deixar tudo em ordem, não? - Estava de pé, uma mão apoiada na anca, o joelho flectido, a cabeça timidamente desviada, um pouco de lado, como se não pudesse olhá-lo de frente. De rosto erguido, ele observava-a em silêncio.
- Venha sentar-se aqui um minuto - disse então.
- Não, tenho de ir andando. Jill está à minha espera e pode ficar inquieta se eu não for já.
- Porque se sobressaltou daquela maneira há bocado? - perguntou ele.
- Mas eu sobressaltei-me? - retorquiu ela, olhando-o.
- Ora essa! Ainda há instantes - disse ele. - Na altura em que você gritou.
- Oh, isso! - exclamou da. - Bom, é que o tomei pelo raposo! - E contraiu o rosto num estranho sorriso, meio embaraçado, meio irónico.
- O raposo! Mas porquê o raposo? - inquiriu ele com grande suavidade.
- Bom, é que no Verão passado, numa tarde em que tinha saído de espingarda, vi o raposo por entre as ervas, quase ao pé de mim, a olhar-me fixamente. Não sei, suponho que foi isso que me impressionou. - E voltou a virar a cabeça, balouçando ao de leve um dos pés, com um ar constrangido.
- E matou-o? - perguntou o rapaz.
- Não, pois ele pregou-me um tal susto, ali a olhar muito direito para mim, que o deixei afastar-se. Mas depois voltou a parar, virando-se então para trás e olhando-me como que a rir-se...
- Como que a rir-se! - repetiu Henry, rindo--se por seu turno. - E isso assustou-a, não foi?
- Não, ele não me assustou. Apenas me impressionou, mais nada.
- E pensou então que eu era o raposo, não é? - disse ele, rindo daquela forma estranha, sacudida, um ar de cachorrinho no nariz franzido.
- Sim, na altura pensei - respondeu ela. - Se calhar, e ainda sem o saber, não me saiu da cabeça desde então.
- Ou talvez você pense que eu vim cá roubar-lhe as galinhas ou algo assim - retorquiu ele, naquele seu riso juvenil.
Mas ela limitou-se a olhá-lo com um ar vago e ausente nos grandes olhos negros.
- E a primeira vez - disse então ele - que me confundem com um raposo. Não quer sentar-se por um minuto? - Falava agora num tom de grande suavidade, meigo e persuasivo.
- Não, não posso - volveu ela. - Jill deve estar à espera. - Mas deixou-se ficar especada, um pé a bambolear, o rosto desviado, ali parada no limiar do círculo de luz.
- Mas não quer então responder à minha pergunta? - disse ele, baixando ainda mais a voz.
- Não sei a que pergunta se refere.
- Sabe, sim. E claro que sabe. Eu perguntei-lhe se se queria casar comigo.
- Não, não devo responder a uma tal pergunta - replicou ela, categórica.
- Mas porque não? - E voltou a franzir o nariz, de novo tomado por aquele seu curioso riso juvenil. - E porque eu sou como o raposo? E por isso? - E ria-se com gosto.
Virando-se, ela fitou-o num olhar lento, demorado.
- Não deixarei que isso se interponha entre nós - disse ele então. - Deixe-me baixar a luz e venha sentar-se aqui um instante.
Enfiando a mão por baixo do quebra-luz, a pele vermelha quase incandescente sob o fulgor da lâmpada, baixou subitamente a luz até quase a apagar. March, sem se mover, quedou--se de pé em meio à obscuridade, indistinta, vaga, quase irreal. Então, ele ergueu-se silenciosamente, firmando-se nas suas longas pernas. E falava agora com uma voz extraordinariamente suave e sugestiva, quase inaudível.
- Deixe-se ficar um momento - disse. - Só um momento. - E pôs-lhe a mão no ombro. Ela virou-se então para ele. - Não acredito que possa realmente pensar que sou como o raposo - continuou ele com a mesma suavidade, uma leve sugestão de riso no tom algo trocista. - Não está a pensar nisso agora, pois não? - E, com extrema gentileza, atraiu-a para si, beijando-lhe suavemente o pescoço. Ela retraiu-se, estremecendo, e tentou escapar-lhe. Mas o braço dele, jovem e forte, fê-la imobilizar-se, enquanto ele voltava a beijá-la no pescoço com grande suavidade, pois ela insistia em desviar o rosto.
- Não quer responder à minha pergunta? Não quer? Agora, aqui mesmo... - voltou a repetir numa voz suave, arrastada, quase langorosa. Estava agora a tentar puxá-la mais para si, a tentar beijá-la no rosto. Beijou-a então numa das faces, junto ao ouvido.
Nesse momento, ouviu-se a voz de Banford, enfadada e azeda, a chamar do alto das escadas.
- É Jill! - exclamou March, endireitando--se, assustada.
Porém, ao fazê-lo, ele, rápido como um relâmpago, beijou-a na boca, um beijo corrido, quase de raspão. Ela sentiu que todo o seu ser se lhe incendiava, que todas as fibras lhe ardiam. Deu então um estranho grito, curto e rápido.
- Casa, não casa? Diga que sim! Casa? - insistiu ele suavemente.
- Nellie! Nellie! Porque é que te demoras tanto? - voltou a gritar Banford, numa voz fraca, distante, vinda da escuridão envolvente.
Mas ele mantinha-a bem segura, continuando a murmurar-lhe com intolerável suavidade e insistência:
- Casa, não casa? Diga que sim! Diga que sim!
March, com a sensação de estar possuída por um fogo abrasador, as entranhas a arder, sentindo-se destruída, incapaz de reagir, limitou-se a murmurar:
- Sim! Sim! Tudo o que quiser! Tudo o que quiser! Mas deixe-me ir! Deixe-me ir! Jill está a chamar!
- Não se esqueça do que prometeu - disse então ele, insidiosamente.
- Sim! Sim! Bem sei! - Falava agora num tom subitamente alto, com uma voz gritada, estridente, quase que um guincho. - Está bem, Jill, vou já!
Surpreendido, ele largou-a. Quase a correr, ela subiu então rapidamente as escadas.
Na manhã seguinte, depois de ter dado as suas voltas e tratado dos animais, pensando para consigo que até se podia ali viver muito bem, disse para Banford enquanto tomavam o pequeno-almoço:
- Sabe uma coisa, Miss Banford?
- Diga lá! O que é? - respondeu Banford, com o seu ar nervoso e afável de sempre.
Ele olhou então para March, ocupada a pôr geleia no pão.
- Digo-lhe? - perguntou-lhe.
Ela olhou para ele, o rosto invadido por um intenso rubor róseo.
- Sim, se se está a referir a Jill - respondeu ela. - Só espero que não vá espalhar por toda a aldeia, nada mais. - E engoliu o pão seco com uma certa dificuldade.
- Bom, que irá sair daí? - disse Banford, erguendo os olhos vazios e cansados, ligeiramente vermelhos também. Era uma figurinha fina, frágil, com um cabelo curto, delicado e ralo, de tons desmaiados, já algo grisalho no seu castanho-claro, caindo-lhe suavemente sobre o rosto macilento.
- Pois que pensa que possa ser? - indagou ele, sorrindo como quem está de posse de um segredo.
- Como hei-de eu saber?! - exclamou Banford.
- Não pode adivinhar? - insistiu ele, de olhos brilhantes, um sorriso de profunda satisfação estampado no rosto.
- Não, creio bem que não. Mais, nem sequer me vou dar ao trabalho de tentar.
- Nellie e eu vamo-nos casar.
Banford soltou a faca, deixando-a cair dos dedos magros e delicados como quem não tivesse qualquer intenção de voltar a comer com ela em dias da sua vida. E ficou ali a olhar, perplexa, os olhos atónitos e avermelhados.
- Vocês o quê?! - exclamou então.
- Vamo-nos casar. Não é verdade, Nellie? - disse ele, virando-se para March.
- Pelo menos é o que você diz - respondeu esta, lacónica. Mas de novo o rosto se lhe ruborizou num fulgor de agonia. E também ela se sentia agora incapaz de engolir.
Banford olhou-a qual pássaro mortalmente atingido, um pobre passarinho doente, abandonado e só. E, com um rosto em que se lia todo o sofrimento que lhe ia na alma, envolveu March, profundamente ruborizada, num olhar de espanto, pasmo e dor.
- Nunca! - exclamou então, sentindo-se desamparada e perdida.
- Pois é bem verdade - disse o jovem, um brilho maldoso nos olhos exuberantes.
Banford desviou o rosto, como se a simples visão da comida na mesa lhe desse agonias. E, como se estivesse realmente enjoada, quedou-se assim sentada durante algum tempo. Então, apoiando uma mão na borda da mesa, pôs-se finalmente de pé.
- Nunca acreditarei nisso, Nellie, nunca! - gritou. - É absolutamente impossível!
Havia na sua voz aflita e plangente um leve tom de desespero, de fúria, quase que de raiva.
- Porquê? Porque não deveria acreditar? - perguntou o jovem, com aquele seu tom de impertinência na voz suave e aveludada.
Banford olhou para ele do fundo dos seus olhos vagos e ausentes, como se ele não passasse de um qualquer animal de museu.
- Oh! - disse ela em voz fraca. - Porque ela não pode ser assim tão louca, não pode ter perdido o seu amor-próprio a um ponto tal. - Falava de forma desgarrada, como que à deriva, numa voz desanimada e dolente.
- Mas em que sentido é que ela iria perder o seu amor-próprio? - perguntou o rapaz.
Por detrás dos óculos, Banford olhou-o fixamente com um ar distante e ausente.
- Se é que já não o perdeu - disse.
Sob a insistência daquele olhar vago e abstracto, emergindo por detrás das grossas lentes, ele tornou-se muito vermelho, quase escarlate, o rosto febril, afogueado.
- Não estou a perceber nada - disse então.
- Se calhar, não. Aliás, não esperava que percebesse - respondeu Banford naquele seu tom suave, distante e arrastado, que tornava as suas palavras ainda mais insultuosas.
Ele inteiriçou-se na cadeira, quedando-se rigidamente sentado, os seus olhos azuis a brilharem, ardentes, no rosto escarlate. Fitava-a agora de sobrolho carregado, um ar de ameaça no rosto tenso.
- Palavra que ela não sabe em que é que se está a meter - continuou Banford na mesma voz plangente, arrastada, insultuosa.
- Mas que é que isso lhe importa, afinal de contas? - disse o jovem, irritado.
- Provavelmente muito mais do que a si - replicou ela, a voz simultaneamente dolente e venenosa.
- Ah, sim?! Pois olhe que continuo sem perceber nada! - explodiu ele.
- É natural. Aliás, não creio que o pudesse perceber - retorquiu ela, evasiva.
- De qualquer forma - disse March, empurrando a cadeira para trás e levantando--se, abrupta -, não serve de nada estar para aqui a discutir. - E, agarrando no pão e no bule do chá, dirigiu-se a passos largos para a cozinha.
Banford, como que em êxtase, passou uma mão pela testa, os dedos trémulos e nervosos errando-lhe ao longo dos cabelos. Depois, voltando costas, desapareceu escada acima.
Henry deixou-se ficar sentado, um ar rígido e carrancudo, de rosto e olhos em fogo. March andava de cá para lá, levantando a mesa. Mas Henry não arredava pé, paralisado pela raiva. Quase que nem dava por ela. Esta readquirira a sua habitual compostura, exibindo uma tez cremosa, macia, uniforme. Contudo, os lábios permaneciam cerrados, a boca crispada. Mas sempre que vinha buscar coisas da mesa, deitava-lhe um rápido olhar, espreitando-o com os seus grandes olhos atentos, mais por simples curiosidade do que por qualquer outro motivo. Um rapaz tão crescido, com um rosto tão carrancudo e vermelhusco! Ei-lo tal como agora estava, para ali sentado muito quieto. Além disso, parecia estar muito longe dali, tão distante dela como se o seu rosto afogueado não passasse de um simples cano vermelho de chaminé numa qualquer cabana perdida algures nos campos. E ela observava-o com a mesma distanciação, com a mesma objectividade.
Finalmente, ele levantou-se e, com um ar grave, saiu porta fora a grandes passadas, dirigindo-se para os campos de espingarda na mão. Só voltou à hora do almoço, o mesmo ricto demoníaco no rosto irado, mas com modos assaz delicados e corteses. Ninguém disse nada de especial, tendo ficado sentados em triângulo, cada um em sua ponta, todos com um ar abstracto, ausente, fechados no mesmo obstinado silêncio. De tarde, voltou a sair de espingarda na mão, retirando-se imediatamente após a comida. Voltou ao cair da noite com um coelho e um pombo, quedando-se então em casa durante todo o serão, quase sem dizer palavra. Estava furioso, enraivecido, com a sensação de ter sido insultado.
Banford tinha os olhos vermelhos, obviamente por ter estado a chorar. Mas os seus modos eram mais distantes e sobranceiros do que nunca, especialmente na forma como desviava o rosto quando ele, por acaso, calhava falar, como se o considerasse um vagabundo um reles intruso, enfim, um miserável qualquer da mesma laia, pelo que os olhos azuis do rapaz quase que se tornavam negros de raiva, uma expressão ainda mais carregada no rosto sombrio. Mas nunca perdia o seu tom de polidez sempre que abria a boca para falar.
March, pelo contrário, parecia rejubilar naquela atmosfera. Sentada entre os dois antagonistas, bailava-lhe no rosto um leve sorriso perverso, como que profundamente divertida com tudo aquilo. Quase que até havia uma espécie de complacência no modo como naquela noite trabalhava no seu lento e laborioso croché.
Uma vez deitado, o jovem deu-se conta de que as duas mulheres conversavam e discutiam no quarto delas. Sentando-se na cama, apurou o ouvido na tentativa de perceber aquilo que estavam a dizer. Mas não pôde ouvir nada, pois os quartos ficavam demasiado longe um do outro. Não obstante, foi-lhe possível distinguir o timbre brando e plangente da voz de Banford em contraponto com o tom de March, mais fundo e cavo.
Estava uma noite calma, silenciosa e glacial. Grandes estrelas cintilavam no céu, para lá dos cumes mais altos dos pinheiros. Atento, ele escutava e tornava a escutar. Na distância, ouviu o regougar do raposo, o ladrar dos cães que lhe respondiam das quintas. Mas nada disso lhe interessava. De momento, o seu único interesse era poder ouvir aquilo que as duas mulheres estavam a dizer.
Saltando furtivamente da cama, pôs-se de pé junto à porta. Mas, tal como antes, era-lhe impossível ouvir fosse o que fosse. Então, com todo o cuidado, começou a levantar o trinco e, ao fim de algum tempo, a porta deu finalmente de si. Depois, esgueirando-se sub-repticiamente para o corredor, deu alguns passos cautelosos. Mas as velhas tábuas de carvalho, geladas sob os seus pés nus, estavam com rangidos insólitos, inoportunos. Pé ante pé, deslizou então com todo o cuidado, sempre rente à parede, até atingir o quarto das raparigas. Imobilizando-se aí, junto à porta, susteve a respiração e apurou o ouvido. Era Banford quem estava agora a falar:
- Não, isso ser-me-ia pura e simplesmente insuportável. Um mês que fosse e estaria morta. Aliás, é isso mesmo que ele pretende, é claro. E esse o seu jogo, ver-me enterrada no cemitério. Não, Nellie, se fizeres uma coisa dessas, se casares com ele, não poderás ficar aqui. Eu nunca poderia viver com ele na mesma casa. Oh! Só o cheiro das roupas dele quase que me põe doente. E aquela cara sempre vermelha, sempre congestionada... Dá-me cá umas agonias que até se me revolvem as entranhas! Nem consigo comer quando ele está à mesa, parece que a comida não me passa da garganta. Que louca fui em deixá-lo cá ficar! Nunca nos devemos deixar levar pela nossa bondade, é o que é. Praticar boas acções paga-se sempre muito caro... E como um bumerangue, viram-se sempre contra nós...
- Bem, também já só faltam dois dias para se ir embora - disse March.
- Sim, graças a Deus! E, uma vez fora, não voltará a pôr os pés nesta casa. Sinto-me tão mal quando ele cá está!... E eu bem sei que ele mais não quer do que explorar-te, aproveitar--se de ti... E só isso que lhe interessa, nada mais. Ele não passa de um inútil, de um imprestável! Não quer trabalhar, só pensa em viver à nossa custa... Ah, mas para cá vem de carrinho, que comigo não conta ele!... Se te queres armar em parva, isso é lá contigo! Olha, Mrs. Burguess conheceu-o muito bem quando ele cá viveu. E sabes o que ela diz?... Que o velhote nunca conseguiu que ele fizesse qualquer trabalho direito. Estava sempre a escapar-se para andar por aí de espingarda na mão, tal como faz agora. E só disso que ele gosta, de andar para aí de espingarda! Oh, como eu detesto essa mania, meu Deus, como eu a odeio!... Tu não sabes no que te vais meter, Nellie, não sabes. Se casares com ele, ele vai fazer de ti parva! Mais tarde ou mais cedo, acaba por se pôr ao fresco e deixa-te para aí em apuros. Sim, sim, que eu bem sei!... Isto se não nos conseguir esbulhar de Bailey Farm... Ah, mas disso está ele livre, pelo menos enquanto eu viver!... Enquanto eu viver, ele nunca voltará a pôr aqui os pés, isso te garanto eu!... Sim, que eu bem sei o que iria sair daí. Não ia tardar muito que não começasse a armar em senhor, pensando que podia mandar em nós... Aliás, como já pensa que manda em ti.
- Mas não manda - replicou Nellie.
- Seja como for, ele pensa que manda. E é isso mesmo que ele quer, meter-se aqui e ser ele o dono e senhor. Sim, estou mesmo a vê--lo, a querer mandar em tudo! E será que foi para isso que decidimos instalar-nos aqui, para sermos escravizadas e brutalizadas por um tipo odioso e sanguíneo, um qualquer jornaleiro bestial? Oh, não há dúvida de que cometemos um terrível erro ao deixá-lo cá ficar! Nunca nos devíamos ter rebaixado a esse ponto. E eu que tanto tive de lutar com a gente desta terra para não ter de descer ao seu nível. Não, ele não vai cá ficar. Ah, e então hás-de ver!... Se não se puder instalar por aqui com armas e bagagens, vai voltar a desaparecer, a partir para o Canadá ou para qualquer outro lado, abandonando-te como se tu nunca tivesses existido. E lá ficarás tu completamente arruinada, para aí feita uma parva, objecto do escárnio de toda esta gente. E eu sei que nunca mais poderei ter paz, que nunca mais me poderei recompor...
- Pois vamos dizer-lhe que não pode cá ficar. Vamos dizer-lhe que não pode ser, que tem de partir, está bem? - disse March.
- Oh, não te incomodes! Sou eu quem lho vai dizer, isso e muito mais, antes de ele se ir embora. Não vai ser tudo como ele quer, pelo menos enquanto me restarem forças para falar, isso to garanto. Oh, Nellie, ele vai desprezar-te como besta que é, aquele imundo animal! Basta que lhe dês azo e vais ver. Ser-me-ia mais fácil acreditar num gato que não roubasse do que ter qualquer confiança nele. Ele é dissimulado, prepotente, egoísta da cabeça aos pés, frio como gelo. Só quer aproveitar-se de ti, nada mais. E quando já não lhe interessares, quando já não lhe servires para nada, pobre de ti!
- Bom, também não creio que seja assim tao mau... - disse March.
- Pois enganaste! Pensas isso porque contigo ele anda a disfarçar. Mas espera até o conheceres melhor e hás-de ver. Oh, Nellie nem aguento pensar nisso! Pensar em ti assim...
- Mas, querida Jill, tu não terás nada a ver com isso! Nada te acontecerá, não tens que ter receio...
- Ah, não? Nada me acontecerá, não é?... Isso dizes tu, mas eu sei que nunca mais terei um momento de descanço, que nunca mais voltarei a ser feliz. Não, Nellie, nunca mais serei feliz!... - E Banford pôs-se a chorar amargamente.
O rapaz, de pé do lado de fora da porta, pôde ouvir os soluços abafados da mulher. Depois, a voz de March, que no seu tom profundo, suave, terno, confortava, com gentileza e ternura, a amiga lavada em lagrimas.
Tinha os olhos desmesuradamente abertos, tão redondos e vazios que dir-se-ia conterem em si toda a imensidão da noite, além de que os ouvidos, como que descolados da cabeça, quase que pareciam querer saltar fora. Estava meio morto de frio, o corpo gelado e hirto. Então, deslizou silenciosamente de volta ao quarto, voltando a deitar-se na cama. Mas sentia uma dor aguda no alto da cabeça, como se esta lhe fosse estalar. Assim, não conseguia dormir nem estar quieto. Decidindo, pois, levantar-se, vestiu-se com todo o cuidado, evitando fazer barulho, e voltou a sair para o patamar. As mulheres estavam agora em silencio. Descendo cautelosamente as escadas, dirigiu-se então até à cozinha.
Uma vez aí, calçou as botas, pôs o sobretudo e pegou na espingarda. Não que tenha pensado em se afastar da quinta. Apenas pegou na espingarda, nada mais. Tão silenciosamente quanto possível, abriu a porta e saiu para o exterior, mergulhando assim no frio glacial daquela noite de Dezembro. Estava um ar parado, com as estrelas a cintilarem lá no alto por sobre os picos acerados dos pinheiros, recortando-se, sussurrantes, contra o céu límpido e claro. Dirigindo-se furtivamente para junto de uma sebe, olhou em volta à procura de caça. Porém, lembrou-se de repente de que não devia disparar para não assustar as mulheres.
Assim, ladeando os montes de tojo, cortando depois através do matagal por entre velhos e altos azevinhos, foi perscrutando a escuridão com olhos tão dilatados e brilhantes como os de um gato, simultaneamente negros e luzidios, capazes de penetrarem as trevas com tanta acuidade como se fosse dia. Um mocho piava monótona e lastimosamente junto de um velho carvalho. Avançando devagar, pé ante pé num passo furtivo, a espingarda bem firme na mão, ele seguia atento, ouvido à escuta, alerta ao menor ruído.
Ao chegar junto dos carvalhos da orla do bosque, parando por instantes para apurar melhor o ouvido, deu-se conta de que os cães da cabana vizinha, no alto da colina, tinham desatado subitamente a ladrar, como que alvoroçados, acordando assim os cães das quintas em redor que ladravam agora em resposta. E, de repente, teve a sensação de que a Inglaterra se tornava mais pequena e acanhada, que a própria paisagem como que se contraía na escuridão, que demasiados cães povoavam a noite com um estrépito semelhante a uma barreira de som, como um labirinto de sebes inglesas em que a vista se enredasse, baralhada e perdida. E sentiu que o raposo não tinha qualquer hipótese. Pois só podia ter sido o raposo a desencadear todo aquele tumulto.
Aliás, porque não pôr-se à espera dele? Na certa que devia vir por aí, farejando tudo em seu redor. O rapaz desceu então a colina até ao local onde a quinta e alguns raros pinheiros se acocoravam no escuro. Chegando junto ao comprido barracão, agachou-se numa esquina, em meio às trevas envolventes. Sabia que o raposo estava a chegar. E pareceu-lhe a ele que aquele devia ser o último da sua espécie naquela Inglaterra repleta de clamorosos latidos, ininterruptos e furiosos, correndo, acossado, por entre um nunca mais acabar de casas, casinhas e casinhotos.
Deixou-se estar sentado por longo tempo, olhos invariavelmente fixos no portão aberto, lá onde parecia haver uma pálida luz, quem sabe se vinda das estrelas ou do horizonte. Estava sentado num toro com a espingarda em cima dos joelhos, oculto num canto escuro. De quando em vez, ouvia os estalidos dos pinheiros. No celeiro, houve uma altura em que uma galinha, tendo caído do poleiro com um baque surdo, desatou a cacarejar, alvoroçada, pelo que ele se ergueu, estremecendo, e ficou a olhar, olhos e ouvidos muito abertos, pensando que tivesse sido um rato. Mas não, sentiu que não fora nada. Assim, voltou a sentar-se com a espingarda em cima dos joelhos e as mãos enfiadas debaixo dos braços para as aquecer, o olhar fixamente cravado na pálida luminosidade do portão aberto, sem um pestanejo sequer nos olhos firmes e atentos. Entrando-lhe pelas narinas, sentiu o odor quente, enjoativo e forte das galinhas que dormiam, pairando no ar frio e cortante.
E então... Uma sombra. Deslizando pelo portão, viu passar uma sombra. Concentrando o olhar num único e poderoso foco visual, viu então a sombra do raposo, viu o raposo rastejando sobre o ventre através do portão. Lá estava ele, de ventre rastejante como uma cobra. Sorrindo para consigo, o rapaz levou a arma ao ombro. Sabia perfeitamente como tudo se iria passar. Sabia que o raposo se ia dirigir para junto das tábuas da porta do galinheiro, pondo-se aí a farejar. E sabia que ele se ia quedar aí uns instantes, sentindo o cheiro das galinhas no interior. Então, pôr-se-ia de novo a rondar por ali, focinho rente ao chão junto às paredes do velho celeiro, à espera de descobrir por onde entrar.
A porta do galinheiro ficava ao cimo de uma ligeira subida. Tão suave e imperceptível como uma sombra, o raposo rastejou ao longo da subida e acocorou-se de focinho encostado às tábuas. Nesse preciso momento, ouviu-se o estrondo ensurdecedor do disparo da caçadeira ecoando entre os velhos edifícios, quase como se a noite tivesse explodido, mil e um estilhaços voando no ar. Mas o rapaz quedou-se na expectativa, olhar atento e brilhante. E viu então o ventre branco do raposo, as patas do animal debatendo-se no ar nas vascas da agonia. Depois, encaminhou-se para lá.
Em redor, a agitação e o tumulto eram indescritíveis. As galinhas debatiam-se e cacarejavam, os patos grasnavam, o pónei escouceava, enlouquecido. Mas a seu lado estava o raposo, o corpo percorrido pelos espasmos da morte. Debruçando-se sobre ele, o rapaz aspirou aquele característico odor vulpino.
Ouviu então o ruído de uma janela a abrir-se no andar de cima, chegando-lhe depois aos ouvidos a voz de March, inquirindo num grito:
- Quem está aí?
- Sou eu - disse Henry. - Acabo de disparar sobre o raposo.
- Oh, meu Deus! Sabe que quase nos matou de susto?
- Ah, sim? Lamento imenso.
- Mas porque é que se levantou?
- Ouvi-o, ou melhor, senti que ele andava por aqui.
- E então, matou-o?
- Sim, está aqui - disse o rapaz, de pé no meio do pátio, erguendo no ar o corpo ainda quente do animal. - Consegue vê-lo, não consegue? Espere um instante. - E, tirando a lanterna eléctrica do bolso, fê-la incidir no corpo morto do raposo, dependurado pela cauda na sua mão robusta. March viu então, em meio às trevas circundantes, a pelagem avermelhada, o ventre alvo, a mancha branca por debaixo do focinho pontiagudo, as patas pendentes, algo grotescas naquela estranha pose, abandonadas, sem vida. Não soube que dizer.
- E uma beleza - disse então ele. - Vai ficar com uma linda pele para poder usar quando lhe apetecer.
- Nunca me há-de ver com uma pele de raposa, disso pode ter a certeza - respondeu ela.
- Oh! - exclamou o rapaz, apagando a lanterna.
- Bom, acho que agora devia vir para dentro e voltar a deitar-se - aconselhou ela.
- Sim, provavelmente é o que farei. Que horas são?
- Que horas são, Jill? - perguntou March lá para dentro. Era uma menos um quarto.
Naquela noite, March teve outro sonho. Sonhou que Banford tinha morrido, e que ela, March, de coração despedaçado, chorava amargamente. Depois, tinha de pôr Banford num caixão. E o caixão não era mais do que a tosca caixa de madeira que tinham na cozinha, junto ao fogo, e da qual se serviam para guardar a lenha miúda. Este era o caixão, pois não havia mais nada que pudesse servir, pelo que March, perfeitamente desesperada, andava numa aflição doida à procura de qualquer coisa com que forrar a caixa, de qualquer coisa que a tornasse mais macia, de qualquer coisa com que pudesse também cobrir o pobre corpo morto da sua querida amiga. Pois não podia deixá-la ali deitada só com o seu roupão branco vestido, naquela horrível caixa de madeira. Assim, procurou e voltou a procurar, rebuscando tudo, pegando nisto e naquilo, examinando peça após peça para logo as pôr de lado, o coração opresso pela frustração de nada encontrar na agonia do seu sonho. E em todo o seu desespero subconsciente nada mais achou que pudesse servir, tão-só uma pele de raposo. Sabia que isso não estava certo, que não era próprio para o fim em vista, mas foi tudo o que pôde achar. E então dobrou a cauda do raposo, pousando nela a cabeça da sua querida Jill, e aproveitou a pele do mesmo para com ela cobrir a parte superior do corpo, de tal modo que este tinha o ar de jazer sob uma colcha escarlate, de um vermelho chamejante. À vista disso, desatou a chorar convulsivamente, em copioso pranto, para depois acordar e dar consigo banhada em lágrimas, escorrendo-lhe, ácidas, pelo rosto.
Pela manhã, a primeira coisa que ambas fizeram, tanto ela como Banford, foi saírem para ir ver o raposo. O rapaz colocara-o no barracão, pendurado pelas patas traseiras, a cauda inerte caída para trás. Era um belíssimo macho em pleno apogeu, revestido da sua magnífica pelagem de Inverno, espessa e farta, com uma bonita cor vermelho-dourada, tornando-se acinzentada ao passar para o ventre, este já de um branco alvíssimo. Na cauda, comprida e abundante, predominavam o preto e o cinzento, delicada amálgama que morria ao chegar à ponta, de um branco imaculado.
- Pobre animal! - disse Banford. - Se não fosse tão patifório, tão ladrão, era caso para ter pena dele.
March nada disse, quedando-se, absorta, com todo o seu peso assente num só pé, a anca saliente, o outro pé a arrastar, abandonado e indolente. As faces pálidas, abria os seus grandes olhos negros, como que hipnotizada pela visão do corpo morto do animal, suspenso de cabeça para baixo. Tinha o ventre tão branco, tão macio... Lembrava a branca alvura da neve, pensou ela. E passou-lhe docemente a mão por cima. A cauda, de um negro maravilhoso, resplandecente, era farta, roçagante, uma maravilha! E, passando-lhe também a mão por cima, sentiu-se estremecer. Repetidas vezes, mergulhou os dedos por entre a abundante pelagem da cauda, espessa e farta, percorrendo-a depois com a mão num lento movimento descendente. Que cauda maravilhosa, tão afilada e espessa, tão bela e resplandecente! E ei-lo ali morto! Os olhos escuros e ausentes, franziu a boca num esgar, os lábios contraídos. Depois, tomou então aquela cabeça nas mãos, quedando-se, absorta.
Henry andava por ali, de um lado para o outro, pelo que Banford acabou por se ir embora, virando-lhe ostensivamente as costas. March, com a cabeça do raposo nas mãos, ficou ao imóvel, mente perturbada e confusa. Estava pensativa, admirando aquele comprido focinho, alongado e esguio. Por qualquer razão, este lembrava-lhe uma colher ou uma espátula. E sentiu que semelhante coisa lhe era incompreensível. Para si, o animal era um bicho estranho, enigmático, fora da sua compreensão. E que belos bigodes prateados ele tinha, mais pareciam de gelo, quais finíssimas estalactites. As orelhas espetadas, cheias de pêlo por dentro, destacavam-se por sobre aquele comprido nariz de colher, delgado e esguio. Emergindo deste, viam-se uns dentes maravilhosamente brancos, lançados para a frente, dentes para abocanhar e morder, penetrando fundo nas entranhas da presa, dentes que despedaçavam, que rasgavam, que mordiam, dentes ávidos de sangue, ávidos de vida.
- É uma beleza, não é? - disse Henry, de pé, junto dela.
- Oh, sim! É um magnífico raposo! E bem grande! Ainda gostaria de saber de quantas galinhas deu ele cabo - retorquiu ela.
- De bastantes, estou certo. Pensa que será o mesmo raposo que viu no Verão?
- Acho que sim, que deve ser. Provavelmente é mesmo ele - volveu ela.
Ele observou-a, atento, sem contudo, chegar a qualquer conclusão. Em parte, ela parecia--lhe muito tímida, inexperiente, quase virginal, mas, por outro lado, revelava-se igualmente bastante austera, prosaica, azeda mesmo. Quando falava, aquilo que dizia dava--lhe sempre a sensação de não concordar com a sua enigmática expressão, destoando do que ressaltava dos seus grandes olhos negros.
- Vai esfolá-lo? - perguntou ela.
- Sim, depois de tomar o pequeno-almoço e de ir buscar uma tábua onde o possa pregar.
- Mas que cheiro tão forte que ele deita, palavra! PuahhL. Vou ter de lavar muito bem as mãos. Não sei que me deu para ser tão parva ao ponto de lhe pegar - disse então ela, olhando para a sua mão direita, aquela que antes passeara pelo ventre e pela cauda do animal, agora levemente manchada de sangue devido à marca escura que aquele tinha na pele.
- Já reparou como as galinhas ficaram tão assustadas mal o cheiraram? - perguntou ele.
- Sim, lá isso é verdade!
- Tenha cuidado não vá apanhar pulgas, olhe que ele está cheio delas!
- Oh! Pulgas!... - replicou ela com indiferença.
Nesse mesmo dia, veio mais tarde a ver a pele do raposo esticada e pregada numa tábua, dir-se-ia quase que crucificada. E sentiu um estranho mal-estar.
O rapaz continuava furioso. Andava por ali sem dizer palavra, de lábios cerrados, como se houvesse engolido parte dos queixos. Mas, como de costume, comportava-se de forma correcta, sempre cortês e afável. Não disse absolutamente nada sobre as suas intenções. E, além do mais, não abordou March o dia inteiro.
Naquela noite, deixaram-se estar na sala de jantar, pois Banford não queria voltar a vê-lo na sua salinha. Uma enorme acha ardia suavemente na lareira. Todos pareciam ocupados: Banford a escrever cartas, March a coser um vestido e ele a consertar qualquer pequeno utensílio. De tempos a tempos, Banford parava de escrever a fim de descansar os olhos, aproveitando então para dar uma olhadela em seu redor. O rapaz estava de cabeça baixa, debruçado sobre o seu trabalho, o rosto oculto entre os braços.
- Ora, vejamos! - disse Banford. - Qual o comboio em que pensa partir, Henry?
Ele levantou a cabeça, olhando de frente.
- No de amanhã de manhã - respondeu.
- Qual, no das oito e dez ou no das onze e vinte?
- No das onze e vinte, suponho eu - replicou ele.
- Mas isso é só depois de amanhã, não é? - disse Banford.
- Sim, é verdade, é só depois de amanhã.
- HummL. - murmurou Banford, voltando à sua escrita. Mas, na altura em que lambia conscienciosamente o envelope para depois o fechar, voltou a perguntar: - E quais são os seus planos para o futuro, se me permite a pergunta?
- Planos? - volveu ele, o rosto afogueado e colérico.
- Sim, sobre você e Nellie, se sempre vão por diante com as vossas intenções. Quando é que a boda terá lugar? - Falava num tom sarcástico, escarninho.
- Oh, a boda! - retorquiu ele. - Não sei.
- Mas não tem nenhuma ideia? - disse Banford. - Então você vai-se embora na sexta e deixa as coisas como estão?
- Bom, e porque não? Podemos sempre escrever-nos.
- E claro que sim. Mas eu gostava de saber por causa da quinta. É que, se a Nellie se vai casar assim de repente, vou ter de procurar outra sócia.
- Mas ela não poderia ficar aqui mesmo depois de casar? - perguntou ele, sabendo muito bem qual seria a resposta.
- Oh! - disse Banford. - Isto não é lugar para um casal. Primeiro, porque não há trabalho suficiente para ocupar um homem. E depois, o rendimento que isto dá é quase nulo. Não, é absolutamente impossível pensar em ficar aqui depois de casar. Absolutamente!
- Está bem, mas eu também não estava a pensar em ficar cá - respondeu ele.
- Óptimo, era isso mesmo que eu pretendia saber. E então a Nellie? Sendo assim, quanto tempo irá ela ficar aqui comigo?
Os dois antagonistas enfrentaram-se, olhos nos olhos.
- Isso já não lhe sei dizer - respondeu ele.
- Ora, vamos, deixe-se disso! - exclamou ela, desdenhosa e petulante. - Tem de ter uma ideia daquilo que pretende fazer, já que pediu uma mulher em casamento. A não ser que seja tudo conversa fiada.
- Conversa fiada? Porque havia de ser conversa fiada?... Penso voltar para o Canadá.
- E vai levá-la consigo?
- Evidentemente.
- Estás a ouvir isto, Nellie? - disse então Banford.
March, até aí de cabeça baixa sobre a costura, ergueu então o rosto, um acentuado rubor róseo nas faces pálidas, um riso estranho, sardónico, nos olhos negros, na boca franzida.
- E a primeira vez que ouço dizer que vou para o Canadá - disse.
- Bem, alguma vez tinha de ser a primeira, não é assim? - volveu o rapaz.
- Sim, suponho que sim - respondeu ela em tom de desprendido. E voltou à sua costura.
- Estás mesmo disosta a ir para o Canadá, Nellie? Achas que sim? - perguntou Banford.
March voltou a erguer os olhos.
E deixando descair os ombros, abandonando a mão no regaço, de agulha entre os dedos, respondeu:
- Depende do modo como tiver de ir. Não me parece que queira ir apertada numa terceira classe, como simples mulher de um soldado. - E acrescentou: - Receio não estar habituada a tais coisas.
O rapaz fitou-a de olhos brilhantes.
- Prefere então ficar por aqui enquanto eu vou à frente ver como correm as coisas? - inquiriu.
- Sim, se não houver outra alternativa - replicou ela.
- Assim é que é ter juízo. Não tomes qualquer compromisso definitivo, olha que é bem melhor - disse Banford. - Mantém-te livre para responderes sim ou não depois de ele ter voltado a dizer que já arranjou onde ficarem, Nellie. Qualquer outra atitude é uma loucura, uma loucura.
- Mas não acha - disse o jovem - que nos devíamos casar antes de eu partir?
Depois, conforme o caso, iriamos então juntos ou um primeiro e o outro depois.
- Acho que isso é uma péssima ideia! - exclamou Banford num grito.
Ela olhou em frente, os olhos errando, abstractos, pela sala.
- Bem, não sei - respondeu. - Vou ter de pensar nisso.
- Porquê? - pergroveitando a oportunidade para a fazer falar.
- Porquê? - repetiu ela. Repetira a pergunta em tom trocista, e, apesar do leve rubor que voltara a subir-lhe às faces, olhava para ele com um sorrido nos lábios. - Acho que há muitas e boas razoes para isso.
Ele observava-a em silencio. Sentiu que ela lhe escapava, que se conluiara com Banford contra ele. Lá estava de novo aquela estranha expressão, aqueles olhos sardónicos... E sabia que ela riria, trocista, de tudo aquilo que ele dissesse deste mundo de todo o género de vida que ele lhe oferecesse.
- É claro - disse então ele - que não tenciono obrigá-la a fazer nada contra vontade.
- Espero bem que não, ora essa! - exclamou Banford em ar indignado.
À hora de se irem deitar, Banford disse a March, na sua voz lamurienta:
- Levas-me a botija de água quente para cima, Nellie? Fazes-me esse favor?
- Sim, claro que sim - respondeu March, com aquela espécie de contrariada condescenda que tantas vezes revelava para com a sua querida e volúvel Jill.
As duas mulheres subiram então as escadas. Passado algum tempo, March disse lá de cima:
- Boa noite, Henry. Já não devo ir aí abaixo. Não se esqueça depois de apagar a luz e de tratar da lareira, está bem?
No outro dia, Henry apareceu de semblante carregado, um ar fechado no jovem rosto sombrio, dir-se-ia quase um menino amuado. Passou o tempo a cogitar, remoendo pensamentos sobre pensamentos. Teria gostado que March casasse com ele e o acompanhasse de volta ao Canadá. E, pelo menos até ali, sempre se convencera de que ela assim faria. Porque a queria, isso não sabia. Mas sabia que a queria. Desejava-a com um tal ardor que todo ele se contorcia de raiva ao saber-se contrariado. Na sua fúria juvenil, era para ele insuportável que o pudessem contrariar. Mas tinham--no contrariado... E isso era-lhe insuportável, absolutamente insuportável! Sentia-se possuído de uma tal fúria interior que nem sabia o que fazer. Mas optou por controlar-se, por refrear a sua raiva. Pois, apesar de tudo, as coisas ainda podiam vir a alterar-se. Ela ainda podia voltar para ele. E claro que sim. Tinha o dever de o fazer, era a sua obrigação. E tinha todo o direito, nada a podia impedir.
Lá para a tarde, o ambiente voltou a tornar--se bastante tenso. Ele e Banford tinham-se evitado durante todo o dia. De facto, Banford fora até à cidadezinha próxima no comboio das 11 e 20, pois era dia de mercado, devendo depois regressar no das 16 e 25. Quase ao cair da noite, Henry viu a sua figurinha esguia, vestida com um casaco azul-escuro e uma boina larga da mesma cor, a atravessar o prado vindo da estação. Deixou-se ficar onde estava, imóvel debaixo de uma pereira brava, a terra a seus pés juncada de folhas velhas e secas. E quedou-se a observar aquela figurinha azul que avançava tenazmente pelo prado inverniço, íngreme e escabroso. Tinha os braços cheios de embrulhos, pelo que avançava com grande lentidão, pequena e frágil como era, mas com aquela ponta de diabólica determinação que ele tanto detestava nela. Continuava oculto na sombra da pereira, quase invisível debaixo desta. E se os olhares pudessem tornar desejos em realidades, ela ver-se-ia tolhida por duas enormes grilhetas de ferro, rodeando-lhe os tornozelos à medida que avançava. "Não passas de um estuporzinho, essa é que é essa", murmurava ele entredentes através da distância. "Um estuporzinho, um reles estuporzinho. Espero que ainda venhas a pagar por todo o mal que me fizeste sem motivo algum. Espero bem que sim, meu grande estuporzinho. Espero que o venhas a pagar, e a pagar caro. E hás-de pagar, podes crer, se os desejos ainda têm algum valor. Meu estuporzinho, não passas de um estuporzinho asqueroso, é o que é."
Ela avançava com grande dificuldade, subindo lentamente a ladeira. Mas mesmo que ela escorregasse a cada passo, rolando por ali abaixo até um qualquer abismo insondável, ele não mexeria um dedo para a ajudar a transportar os embrulhos. Ah! Lá ia March, calcando a terra com o seu passo largo, de calções e casaquinho cintado! Descendo a colina a grandes passadas, dando mesmo algumas curtas corridas de quando em vez, toda embalada na sua grande solicitude e desejo de ir em socorro da sua pequenina Banford. O rapaz observava-a, furioso, o coração a transbordar de raiva. Vê-la a saltar valas, a correr que nem uma doida por ali abaixo como se a casa estivesse a arder, tudo isso só para ir ao encontro daquele objectozinho negro que rastejava colina acima! Assim, Banford parou, à espera que ela lá chegasse. E March, uma vez lá, pegou em todos os embrulhos, excepto num ramo de crisântemos amarelos. Eis tudo quanto Banford carregava agora, um ramo de crisântemos amarelos!
"Sim, ficas muito bem assim, não há dúvida", murmurou ele baixinho na penumbra do entardecer. "Ficas muito bem assim, para aí feita parva agarrada a um ramo de flores, lá isso ficas! Se gostas assim tanto de flores, toda abraçada a elas como vens, faço-tas para o chá, está descansada. E volto a dar-tas ao pequeno-almoço, aí volto, volto! Vou passar a dar-te flores, só flores e nada mais."
E quedou-se a observar a marcha das duas mulheres. Podia agora ouvir-lhes as vozes. March, franca como sempre, pondo um leve tom de repreensão na ternura da voz, Banford falando baixinho, como que a murmurar, de forma algo vaga e abstracta. Eram, evidentemente, duas boas amigas. Não conseguiu distinguir aquilo que diziam enquanto não chegaram junto da vedação que delimitava o prado adjacente à casa. Uma vez lá chegadas, viu então March transpor a cancela no seu jeito varonil, segurando todos os embrulhos nos braços, enquanto a voz rabugenta de Banford soava no ar parado:
- Porque é que não me deixas ajudar-te a levar os embrulhos? - Havia na sua voz um estranho tom de queixume, embargando-lhe as palavras. Ouviu-se então a voz de March, firme e sonora, respondendo com negligência:
- Oh, eu cá me arranjo. Não te preocupes. Tu é que tens de recuperar as forças, cansada como vens.
- Sim, isso é muito bonito - retrucou Banford, agastada. - Tu estás sempre a dizer "Não te preocupes" e depois passas o tempo toda ofendida porque ninguém te dá atenção.
- Mas quando é que andei ofendida? - perguntou March.
- Sempre. Andas sempre ofendida. Por exemplo, agora estás ofendida comigo por eu não querer que aquele rapaz venha viver cá para a quinta.
- Isso não é verdade, não estou nada ofendida - replicou March.
- Estás, que eu bem sei que estás. Quando ele se for embora, vais andar toda amuada por causa disso, tenho a certeza.
- Ah, sim? - volveu March. - Bom, veremos.
- Sim, infelizmente eu bem sei que vai ser assim. E dói-me pensar como tu te deixaste apanhar com tanta facilidade. Não posso imaginar como te podes ter rebaixado a esse ponto.
- Eu não me rebaixei coisíssima nenhuma - respondeu March.
- Então não sei que nome lhe dás. Deixar um rapaz como aquele, tão insolente e descarado, fazer de ti uma parva. Realmente não sei que ideia fazes tu de ti. Ou julgas que ele vai ter algum respeito por ti depois de te ter apanhado? Palavra que não gostaria nada de te estar na pele se casares com ele, pois não vai ser nada fácil descalçar essa bota.
- E claro que não gostarias. Aliás, as minhas botas são demasiado grandes para ti, além de não terem metade da elegância das tuas - disse March com mal disfarçado sarcasmo, arrependendo-se de seguida.
- Sempre pensei que fosses muito mais orgulhosa, palavra que sim. Uma mulher tem de se impor, tem de se fazer valer, especialmente tratando-se de um fulano como aquele. Porquê?... Porque ele é demasiado atrevido, eis porquê. Até mesmo na forma como se nos impôs logo de início.
- Nós é que lhe pedimos para ficar - objectou March.
- Mas só depois de ele quase nos ter obrigado a isso. E ele é tão arrogante e autocon-vencido. Meu Deus, como ele me irrita! Deixa--me sempre os nervos em franja, de tão insolente e provocador. E é-me simplesmente impossível perceber como é que tu podes permitir que ele te trate de uma forma tão reles.
- Isso não é verdade, eu não deixo que ele me trate de uma forma reles - respondeu March. - Não te preocupes com isso, nunca ninguém me tratará de uma forma reles. Nem mesmo tu, fica sabendo. - Havia um certo calor na sua voz, misto de ternura e desafio.
- Pois é, eu já sabia que ia acabar por pagar as favas - disse Banford amargamente. - É sempre assim, sou sempre eu quem leva com as culpas. Tenho a impressão que o fazes de propósito para me magoar.
Avançavam agora em silêncio, subindo a ladeira íngreme e ervosa. Ultrapassado o cume, continuaram depois por entre as urzes e o tojo. Do outro lado da sebe atrás da qual se ocultava, o rapaz seguia-as a curta distância, perdido nas sombras do crepúsculo. De vez em quando, através da enorme sebe de velhos espinheiros, altos como árvores, ele entrevia as duas figuras escuras a treparem colina acima. Ao chegar ao cimo da ladeira, viu a casa envolta nas sombras do crepúsculo, com uma velha e grossa pereira quase encostada à empena mais próxima e uma pequenina luz amarelada tremulando nas janelinhas laterais da cozinha. Ouviu depois o ruído do trinco correndo no ferrolho e viu a porta da cozinha a abrir-se, banhada em luz, quando as duas mulheres entraram. Portanto, já estavam em casa.
E com que então era isso que pensavam dele! Ele era uma espécie de ouvinte por natureza, sempre à escuta, de ouvido pronto, portanto, nunca ficava surpreendido com o que quer que ouvisse. Aquilo que as pessoas pudessem dizer a seu respeito nunca o afectava, pois, pessoalmente, isso era-lhe indiferente. Só se sentia bastante surpreendido com o modo como as mulheres se tratavam uma à outra. E detestava Banford com um ódio feroz, ao mesmo tempo que voltava a sentir--se atraído por March. Mais uma vez, algo dentro de si o impelia irresistivelmente para ela. Sentia haver um elo entre eles, um vínculo secreto a uni-los, algo de tão íntimo e reservado que excluía quaisquer terceiros, fazendo com que eles se possuíssem secretamente um ao outro.
E voltou a acreditar que ela acabaria por aceitá-lo. O sangue subitamente inflamado, acreditou que ela concordaria em casar com ele a breve trecho, muito provavelmente pelo Natal. Sim, pois o Natal já não vinha longe. Aquilo que ele desejava, fosse qual fosse a sequência, era conseguir levá-la a um casamento apressado e à sua efectiva consumação. Então, quanto ao futuro, isso depois se veria. Aquilo que desejava era que tudo acontecesse de acordo com os seus planos. Assim, naquela noite, esperava que ela aceitasse ficar a sós com ele depois de Banford ter subido para se ir deitar. Desejava poder tocar as suas faces suaves, cremosas, o seu rosto estranho, assustado. Desejava olhar de perto os seus grandes olhos negros, ler-lhe o temor nas pupilas dilatadas. E desejava mesmo poder pousar-lhe a mão no peito, sentir-lhe os seios macios sob o casaco. Só de pensar nisso, o coração batia-lhe com mais força, pulsando rápido e descompassado, tão grande era o seu desejo de o fazer. Queria certificar-se de que por baixo daquele casaco havia mesmo uns seios de mulher, suaves e macios. Pois ela andava sempre com aquele casaco de fazenda castanha tão hermeticamente abotoado até ao pescoço!
E parecia-lhe a ele que aqueles suaves seios de mulher, andando sempre aferrolhados dentro daquele uniforme, tinham em si algo de perigoso, de secreto. Além do mais, tinha a impressão de que eles deveriam ser muito mais suaves e macios, muito mais belos e adoráveis, encerrados assim naquele casaco, do que o seriam os seios de Banford, ocultos por baixo das suas blusas finas e dos seus vestidos de gaze. Banford tinha certamente uns seios pequenos e rijos, de uma dureza férrea, pensava ele para consigo. Pois, apesar de toda a sua fragilidade, hipersensibilidade e delicadeza, os seus seios deveriam ser duas pequeninas bolas de ferro, ao passo que March, debaixo do seu casaco de trabalho, rijo e grosseiro, teria certamente uns seios brancos e macios, de uma alvura, de uma suavidade por desvendar. E, enquanto assim pensava, sentia o sangue ferver-lhe nas veias, correndo, esbraseado, em frenética galopada.
Quando por fim, chegada a hora do chá, se decidiu a entrar, esperava-o uma surpresa. Surgindo à entrada da porta, já do lado de dentro, os olhos azuis brilhando-lhe, luminosos, no rosto vermelho e vivo, a cabeça ligeiramente descaída para a frente como era seu hábito, deteve-se ao entrar, hesitando um pouco no limiar da porta para observar o interior da sala, atento e cauteloso como sempre, antes de avançar. Trazia vestido um colete de mangas compridas. O seu rosto, qual baga de azevinho, assemelhava-se extraordinariamente a um qualquer elemento exterior que, de repente, ali tivesse irrompido, como se parte do mundo de lá de fora penetrasse portas adentro como um intruso. Nos escassos segundos em que se quedou, hesitante, à entrada da porta, apercebendo-se das duas mulheres sentadas à mesa, cada uma em sua ponta, observando-as então com olhos agudos e penetrantes. E, para seu grande espanto, verificou que March estava com um vestido de crepe de seda verde-escuro. Ficou boquiaberto, tal foi a surpresa. Ele não ficaria mais surpreendido se ela porventura aparecesse subitamente de bigode.
- Mas então - disse ele - afinal também usa vestidos?
Ela ergueu os olhos, duas fundas manchas róseas nas faces ruborizadas, e, franzindo a boca num sorriso, respondeu:
- É claro que sim. Que outra coisa esperava que eu usasse senão um vestido?
- Bom, um traje de rapariga do campo, é evidente - retorquiu ele.
- Oh! -- exclamou ela num tom de indiferença. - Isso é só para este sujo e imundo trabalho cá da quinta.
- Então não é esse o seu traje vulgar? - indagou ele.
- Não, pelo menos para trazer por casa - volveu ela. Mas não deixou de corar enquanto lhe servia o chá. Ele sentou-se à mesa, puxando a sua cadeira do costume, totalmente incapaz de desviar os olhos daquela figura. O vestido era um vestido inteiro, muito simples, de crepe azul esverdeado, com uma tira dourada cosida à volta da gola e outra a debruar as mangas. Era um vestido de mangas curtas, não passando do cotovelo, de corte direito, muito sóbrio, com uma gola redonda que deixava ver o seu pescoço alvo e macio. Os braços, fortes e musculados, de músculos firmes e bem feitos, já ele conhecia, pois vira-a muitas vezes de mangas arregaçadas. Contudo, ele olhava-a como que hipnotizado, mirando-a e remirando-a da cabeça aos pés.
Banford, sentada na outra ponta da mesa, não dizia palavra, mas manifestava o seu nervosismo na forma ruidosa como virava e revirava a sardinha que tinha no prato. Mas ele esquecera-se totalmente da sua existência, quedando-se, embasbacado, a olhar para March enquanto ia comendo o seu pão com margarina a grandes dentadas, sem sequer ligar ao chá já quase frio.
- Bem, nunca vi nada que mudasse assim tanto uma pessoa! - murmurou entre duas dentadas.
- Oh, meu Deus! - exclamou March, cada vez mais ruborizada. - Devo estar com um ar de bicho do outro mundo!
E, levantando-se rapidamente, pegou no bule e levou-o para a cozinha, voltando a pôr a chaleira ao lume. E quando ela se debruçou sobre a lareira, agachando-se, com o seu vestido verde colado ao corpo, o rapaz contemplou-a com olhos ainda mais esbugalhados do que antes. Através do crepe, as suas formas de mulher pareciam agora suaves e femininas. Ao voltar a erguer-se, dando alguns passos na cozinha, ele viu-lhe as pernas gráceis movendo-se, suaves, sob a saia curta cortada à moda. Calçara umas meias de seda preta e uns sapatinhos de verniz com graciosas fivelas douradas.
Não, não podia ser a mesma pessoa. Estava mudada, parecia-lhe alguém totalmente diferente. Acostumado a vê-la sempre vestida com os seus pesados calções, largos e folgados nas ancas, apertados nos joelhos, maciços como uma couraça, com umas grevas castanhas e pesadas botas, nunca lhe ocorrera que ela tivesse pernas e pés de mulher. E, de repente, vendo-lhe as pernas finas moldadas pela saia, dava-se conta disso, apercebia-se do seu ar feminino, acessível. Sentindo-se corar até à raiz dos cabelos, enfiou o nariz na chávena e sorveu o chá algo ruidosamente, facto que fez com que Banford se remexesse toda na cadeira. E, de súbito, algo de estranho sucedeu: sentiu-se um homem, já não um jovem mas sim um homem, um homem adulto, maduro. Sentiu-se um homem com todo o peso das graves responsabilidades do homem adulto. E uma estranha calma, uma espécie de gravidade abateu-se sobre ele, invadindo-lhe o espírito, dominando-lhe a mente. Sentiu-se um homem, calmo e tranquilo, a alma algo opressa pelo peso do seu destino de macho.
Suave e acessível no seu vestido... Este pensamento dominou-o com a força avassaladora de uma nova responsabilidade, de uma responsabilidade para sempre presente.
- Oh, por amor de Deus! Digam alguma coisa, não estejam assim tão calados! - explodiu Banford, enervada e indisposta. - Isto mais parece um funeral. - O rapaz olhou então para ela. Incapaz de suportar aquele rosto, ela viu-se obrigada a desviar a cabeça.
- Um funeral! - exclamou March, crispando a boca num sorriso. - Oh, isso vai ao encontro do meu sonho!
Viera-lhe subitamente à ideia a visão de Banford jazendo na caixa de madeira por único caixão.
- Porquê, estiveste a sonhar com um casamento? - disse Banford, com ácido sarcasmo.
- Sim, se calhar estive - respondeu March.
- Qual casamento? - perguntou o rapaz.
- Já não me lembro - retorquiu March.
Estava tímida e pouco à vontade naquela tarde, pois, apesar de usar um vestido, tinha um comportamento muito mais comedido do que com o seu uniforme de trabalho. Sentia-se desprotegida e algo exposta, quase imprópria, obscena mesmo, para ali vestida daquela forma.
Falaram então muito por alto da partida de Henry, marcada para a manhã seguinte, conversando de forma vaga e desinteressada, posto o que foram tratar dos habituais preparativos. Mas nenhum ousou falar daquilo que realmente lhe ia no espírito, mostrando-se bastante calmos e amigáveis durante toda a tarde. Banford praticamente não abriu a boca, apesar de lá por dentro se sentir tranquila, quase amável até.
Às nove horas, March trouxe o tabuleiro com o sempiterno chá e um pouco de carnes frias que Banford lá conseguira arranjar. Sendo esta a última ceia, Banford procurava não ser desagradável. Até sentia uma certa pena do rapaz, achando-se na obrigação de ser tão gentil quanto possível.
Quanto a ele, o seu maior desejo era que ela se fosse deitar, no que, por via de regra, era sempre a primeira. Mas ela deixou-se ficar sentada na cadeira, sob a luz do candeeiro, relanceando os olhos pelo livro de quando em vez e vigiando o lume. Pairava agora na sala uma profunda quietude. Então, em voz um tanto abafada March decidiu-se a quebrar o silêncio, perguntando a Banford:
- Que horas são, Jill?
- Dez e cinco - respondeu esta, olhando o relógio de pulso.
Depois, nada mais. De novo o silêncio. O rapaz erguera os olhos do livro preso entre os joelhos. Tinha no rosto largo e algo felino um ar de muda obstinação, nos olhos atentos e vivos a insistência da espera.
- E que tal ir para a cama? - disse finalmente March.
- Quando quiseres, estou pronta - volveu Banford.
- Oh, muito bem - disse March. - Vou arranjar-te a botija.
E assim fez. Uma vez preparada a botija de água quente, acendeu uma vela e levou a botija para cima. Banford deixou-se estar sentada, atenta ao menor ruído. Depois, reaparecendo ao cimo das escadas, March voltou a descer.
- Pronto, já está - disse então. - Não vais para cima?
- Sim, é só um minuto - respondeu Banford. Mas os minutos foram passando e ela continuou sentada na cadeira sob a luz do candeeiro.
Henry, cujos olhos, espreitando, observadores, de sob as sobrancelhas, brilhavam como os de um gato, o rosto parecendo cada vez mais largo e arredondado nos seus contornos felinos, na sua inalterada obstinação, ergueu--se então a fim de tentar a sua cartada.
- Acho que vou até lá fora ver se descubro a fêmea daquele raposo - disse. - Pode ser que ande por aí a rondar. Não quer vir também, Nellie, a ver se vemos alguma coisa? É só um minuto...
- Eu?! - exclamou March, erguendo os olhos para ele, um ar simultaneamente perplexo e interrogativo no rosto surpreso.
- Sim, você. Venha daí, vá... - insistiu ele. Era espantoso como a sua voz podia parecer tão quente, tão persuasiva, como podia tornar-se tão suave e insinuante. Ao ouvi-la, Banford sentiu o sangue ferver-lhe, o eco daquele som escaldando-lhe as veias.
- Venha, é só um minuto - teimou ele, baixando os olhos para ela, para aquele rosto erguido, pálido e inseguro.
E então, como que atraída pela força magnética daquele rosto jovem e corado que a olhava com insistente fixidez, ela acabou por se pôr de pé.
- Nunca pensei que alguma vez te atrevesses a sair a esta hora da noite, Nellie! - gritou Banford.
- Não faz mal, é só por um minuto - disse o rapaz, voltando os olhos para ela e falan-do-lhe num estranho tom de voz, quase que num uivo, agudo e sibilante.
March olhava ora para um ora para outro, parecendo abstracta e confusa. Banford levantou-se então por sua vez, preparando-se para a luta.
- Ora esta, mas isso é ridículo! Está um frio de rachar! Tu ainda acabas por morrer gelada com esse vestido tão fino. E ainda por cima com esses sapatecos que não aquecem nada. Não te admito que faças uma coisa dessas, ouviste?
Houve uma pequena pausa. Banford, toda encrespada, mais parecia um galo de briga, fazendo frente a March e ao rapaz.
- Oh, não acho que tenha de se preocupar - retorquiu ele. - Uns instantes ao relento nunca fizeram mal a ninguém. Vou buscar a manta que está em cima do sofá da sala de jantar. Vamos andando, Nellie?
Havia na sua voz tanta raiva, desprezo e fúria quando falava com Banford quanto de ternura e orgulhosa autoridade ao dirigir-se a March. Então esta disse:
- Sim, vamos andando.
E, virando costas, dirigiu-se com ele para a porta.
Banford, de pé no meio da sala, irrompeu de súbito em grande pranto, gritando e soluçando convulsivamente, o corpo sacudido por espasmos. Cobrindo o rosto com as suas pobres mãos, finas e delicadas, os ombros magros agitados por um tremor agónico, chorava desabaladamente. Já a chegar à porta, March olhou então para trás.
- Jill! - gritou ela fora de si, num tom desvairado, como alguém que desperta de repente. E deu a impressão de querer correr para junto da sua querida amiga.
Mas o rapaz tinha o braço de March bem sujeito sob a sua mão jovem e forte, pelo que ela não pôde dar um passo. E não sabia porque é que lhe era impossível mover-se. Tudo se passava como num sonho, quando o coração tenta empurrar o corpo para diante mas este é incapaz de se mover.
- Deixa estar - disse o rapaz com brandura. - Deixa-a chorar. Deixa-a chorar que é melhor. Mais tarde ou mais cedo, teria sempre de acabar por chorar. E as lágrimas ajudá-la--ão, aliviar-lhe-ão os sofrimentos. Só lhe podem fazer bem, podes crer.
Assim, arrastou March lentamente até à porta, obrigando-a a avançar. Mas não pôde impedi-la de lançar um último olhar para a pobre figurinha que ali ficava, de pé, no meio do quarto, o rosto entre as mãos, os ombros magros sacudidos por espasmos, chorando amargamente.
Ao chegarem à sala de jantar, ele agarrou na manta e disse-lhe:
- Vá, embrulha-te nisto.
Ela obedeceu e continuaram a avançar até atingirem a porta da cozinha, com ele sempre a segurá-la pelo braço, com ternura e firmeza, ainda que ele nem sequer se desse conta disso. Mas, ao ver a noite lá fora, teve um súbito movimento de recuo.
- Eu tenho de ir ter com a Jill! - exclamou, então. - Tenho, tenho! Tenho, sim, tenho!
O seu tom era peremptório. O rapaz soltou--lhe então o braço e ela voltou-se para dentro. Mas, voltando a agarrá-la, ele impediu-a de avançar.
- Espera um minuto - disse. - Espera um minuto. Mesmo que tenhas de ir, não vás ainda.
- Deixa-me! Deixa-me! - gritou ela. - O meu lugar é ao lado da Jill! Pobre pequenina, pobre querida, os seus soluços são de cortar o coração!
- Sim - disse o rapaz amargamente. - Cortam o coração, isso é verdade. O dela, o teu e também o meu.
- O teu coração? - perguntou March. Ele continuava a segurá-la pelo braço, impedindo-a de avançar.
- Sim, ou será que o meu coração não vale o dela? - respondeu ele. - Achas que não, é?
- O teu coração? - repetiu ela, incrédula.
- Sim, o meu, o meu coração! Ou julgas que não tenho coração? - E, agarrando-lhe a mão com fervor, num caloroso amplexo, comprimiu-a de encontro ao peito, levando-a até ao lado esquerdo. - Aí tens o meu coração - disse -, já que pareces não acreditar nele.
Foi o espanto que a fez ficar, prendendo-a ali. E sentiu então o poderoso bater do coração dele, forte e profundo, tão terrível como algo vindo do além. Sim, assemelhava-se a algo vindo dos abismos do além, a algo de medonho saído do outro mundo, a algo que a chamava, que a atraía irremediavelmente. E um tal apelo paralisou-a, invadindo-lhe o espírito, ecoando-lhe na alma, deixando-a fraca e indefesa. De imediato, esqueceu Jill. Pensar em Jill era-lhe doravante impossível. Não, não podia pensar nela. Sentia-se tão aturdida, tão confusa... Oh, aquele terrível apelo do exterior, aquele apelo do além!...
O rapaz enlaçou-a pela cintura, puxando-a ternamente para si.
- Vem comigo - disse com extrema suavidade. - Vem... Deixa que digamos um ao outro aquilo que temos para dizer.
E, arrastando-a para fora, fechou a porta atrás de si. Ela acompanhou-o então através da escuridão, seguindo pelo caminho do quintal, totalmente dominada pelo seu fascínio, pelo seu mistério. Logo havia ele de ter um coração que pulsasse daquela maneira! E logo havia de lhe ter posto a mão à volta da cintura, ainda por cima por debaixo da manta! Sentia-se demasiado confusa para pensar em quem ele era ou no que ele era.
Ele levou-a para dentro do barracão, puxando-a para um canto escuro onde havia um caixote de ferramentas com uma tampa, comprido e baixo.
- Sentemo-nos aqui um instante - disse então ele.
Obedientemente, ela sentou-se a seu lado.
- Dá-me a tua mão - continuou ele.
Ela deu-lhe ambas as mãos e ele tomou-as entre as suas. Jovem como era, sentiu-se estremecer.
- Casas comigo, não casas? Casas comigo antes de eu partir, não é verdade? - rogou ele.
- Porque não? Ao fim e ao cabo, não somos ambos um par de loucos? - respondeu ela.
Ele levara-a para aquele canto a fim de que ela não visse a janela iluminada sempre que olhasse para a casa através da escuridão do pátio e do quintal. Procurava mantê-la totalmente desligada do exterior, sozinha com ele ali dentro do barracão.
- Mas em que sentido é que somos um par de loucos? - perguntou ele. - Se quiseres voltar comigo para o Canadá, tenho um emprego e um bom salário à minha espera, além de que é um lugar calmo e agradável, perto das montanhas. E porque não casarás tu comigo? Sim, porque não havemos nós de nos casar? Gostaria muito de te ter lá comigo. Gostaria de saber que tinha alguém, alguém com quem me preocupar, alguém com quem pudesse viver o resto da minha vida.
- Mas ser-te-á fácil arranjar outra, outra que te convenha mais - objectou ela.
- Sim, isso é verdade, ser-me-ia fácil arranjar outra rapariga. Eu sei que sim. Mas nenhuma que eu realmente desejasse. Nunca encontrei nenhuma com quem realmente desejasse viver para sempre. Estás a ver, estou a pensar numa união para toda a vida. Se me casar, quero sentir que isso será para toda a vida. Quanto às outras raparigas... Bom, são apenas raparigas, boas para conversar e passear uma vez por outra, nada mais. Digamos, boas para passar um bom bocado, uns momentos de prazer. Mas quando penso na minha vida, então tenho a certeza de que ficaria bastante arrependida se tivesse de me casar com qualquer delas, disso não tenho dúvidas.
- Queres dizer que elas não dariam uma boa esposa?
- Sim, é isso. Ou antes, não é bem isso... Não digo que não cumprissem com seus deveres para comigo, o que eu quero dizer é que... Bom, a verdade é que não sei o que quero dizer. Só sei que, quando penso na minha vida e em ti, então as duas coisas combinam perfeitamente.
- E se não combinassem? - perguntou ela naquele seu tom estranho, algo sarcástico.
- Bem, eu acho que combinam. Deixaram-se então ficar calados durante algum tempo, ali sentados nas trevas do barracão. Desde que se apercebera de que ela era uma mulher, vulnerável e acessível, sentira-se tomado de uma estranha sensação, o espírito opresso e pesado. Não tinha a menor intenção de a possuir, antes pelo contrário. Estremecia à ideia de uma tal proeza, quase que amedrontado. Ela era uma mulher, finalmente vulnerável e acessível ao seu assédio, mas ele evitava antecipar aquilo que o futuro lhe poderia trazer, quase como se isso o apavorasse. Pois este surgia-lhe à semelhança de uma zona de trevas onde sabia que teria de entrar um dia, mas na qual, pelo menos para já, nem sequer queria pensar. Até porque ela era mulher e ele sentia-se responsável pela estranha vulnerabilidade que subitamente descobrira nela.
- Não - disse ela por fim. - Sou uma idiota, é o que é. Disso não restam dúvidas, sou mesmo uma idiota.
- Mas porquê? - perguntou ele.
- Por aceitar continuar com uma conversa destas.
- Referes-te a mim, é isso? - indagou ele.
- Não, refiro-me a mim. Aquilo que estou a fazer é uma asneira, uma rematada asneira.
- Mas porquê? Será porque realmente não queres casar comigo?
- Oh, não é isso. E que, na verdade, não sei se sou contra ou a favor de uma tal ideia, só isso. Não sei, realmente, não sei.
Ele olhou-a através das trevas, perplexo e confuso. Não fazia a menor ideia do que ela pretendia dizer com aquilo.
- E também não sabes se gostas ou não de estar agora aqui sentada ao pé de mim? - perguntou então.
- Não, realmente não sei. Não sei se gostaria de estar noutro lado ou se prefiro estar aqui. Não sei, realmente não sei.
- Gostarias de estar ao pé de Miss Banford? Gostarias de ir para a cama com ela, é isso? - perguntou ele, em tom de desafio.
Ela quedou-se longo tempo silenciosa antes de responder.
- Não - disse por fim. - Não gostaria.
- E achas que gostarias de passar toda a vida ao pé dela? De ficar com ela até estares velha e de cabelos brancos? - continuou ele.
- Não - respondeu ela sem grandes hesitações. - Não me estou a imaginar a mim e à Jill, duas velhas, a vivermos juntas.
- E não achas que quando eu for velho e tu também já fores velha poderemos ainda estar juntos, juntos como agora estamos? - perguntou então ele.
- Bom, não como agora estamos - volveu ela. - Mas acho que posso imaginar... Não, não posso. Não consigo imaginar-te velho. Além de que isso é horrível!
- O quê, ser velho?
- Sim, é claro.
- Não na devida altura - retorquiu ele. - Mas isso ainda vem longe. Há-de chegar, é claro, mas quando chegar gostaria de pensar que também tu lá estarás, que teremos envelhecido os dois juntos.
- Como dois velhos aposentados num asilo de terceira idade - disse então ela secamente.
Aquela espécie de humor disparatado que ela tinha deixava-o sempre espantado. Nunca percebia muito bem aquilo que ela queria dizer. Provavelmente, nem ela mesma o sabia.
- Não - respondeu ele, chocado.
- Não percebo porque estás para aí a repisar isso da velhice - disse ela então. - Ainda não tenho noventa anos, que eu saiba.
- E alguém disse que os tinhas, por acaso? - replicou ele, ofendido.
Virando a cara, ficaram então calados por algum tempo, entregues aos seus pensamentos.
- Não gosto que faças pouco de mim - disse então ele.
- Ah, não? - volveu ela, num tom enigmático.
- Não, porque neste momento eu estou a falar a sério. E quando estou a falar a sério não gosto de brincadeiras.
- Queres dizer que ninguém deve fazer troça de ti - retorquiu ela.
- Sim, é isso. E também significa que eu próprio não estou disposto a brincar. Quando me acontece estar sério é assim, não gosto de brincadeiras ou de troças.
Ela ficou silenciosa por alguns instantes.
Depois, numa voz vaga, abstracta, algo dolorida mesmo, disse então:
- Não, não estou a fazer pouco de ti.
Ele sentiu-se como que tomado por uma onda de calor, o coração pulsando-lhe rápido e quente.
- Então acreditas em mim, não é verdade? - perguntou.
- Sim, acredito em ti - replicou ela, numa voz onde ressaltava algo do seu velho cansaço, da sua habitual indiferença, como se só cedesse por já estar cansada e farta. Mas ele não se importou, só dando ouvidos ao entusiasmo que lhe ia no coração, inflamado e jubiloso.
- Concordas então em casar comigo antes de eu partir, digamos, lá pelo Natal? Concordas?...
- Sim, concordo.
- Óptimo! - exclamou ele. - Então está combinado.
E deixou-se estar sentado em silêncio, quase que inconsciente, o sangue fervendo-lhe nas veias, correndo, escaldante, num estontea-mento de vertigem, pulsando, frenético, num formigar alucinado, todas as suas fibras em fogo, nervos, dobras, circunvoluções. Limitou-se tão-só a apertar-lhe ainda mais as mãos de encontro ao peito, quase sem dar por isso. Quando esta curiosa paixão começou, finalmente, a acalmar, pareceu então despertar para o mundo.
- Seria melhor irmos andando, não achas? - perguntou, como se só então desse conta do frio que estava.
Ela levantou-se sem dizer palavra.
- Beija-me antes de irmos para dentro, agora que disseste que sim - pediu ele.
E beijou-a suavemente na boca com um beijo tímido e rápido, um beijo de jovem assustado. E este fê-la também sentir-se mais jovem, deixando-a assustada e maravilhada ao mesmo tempo, algo cansada também, muito, muito cansada, quase como se se sentisse prestes a adormecer.
Foram então para dentro. E lá estava Ban-ford na sala de estar, agachada junto ao fogo como se fosse uma bruxa, uma estranha bruxinha pequena e mirrada. Ao entrarem, ela olhou em volta com uns olhos avermelhados, mas não se levantou. E ele pensou que ela tinha um ar assustador, sobrenatural, para ali demoníaco, fez uma figa com os dedos.
Banford reparou no rosto corado e jubiloso do jovem, parecendo-lhe que ele estava estranhamente alto, com um ar luminoso, inebriado. E no rosto de March havia uma curiosa expressão, delicada, suave, quase como que um halo, diáfano e leve. Porém, ela desejava poder ocultá-lo, encobri-lo, não deixar que ninguém o visse.
- Até que enfim que chegaram - disse Banford com rudeza.
- Sim, já chegamos - respondeu ele.
- Por algum motivo se demoraram tanto - volveu ela.
- Sim, lá isso é verdade. Já ficou tudo combinado. Vamos casar o mais depressa possível - replicou ele.
- Oh, com que então já está tudo combinado, hem!... Bem, espero que não venham depois a arrepender-se - disse Banford.
- Assim espero - retorquiu ele.
- Vais agora para a cama, Nellie? - perguntou então Banford.
- Sim, vou já.
- Então, por amor de Deus, vem daí! March olhou para o rapaz. Ele observou-a E ela a Banford, os olhos muito vivos e brilhantes no rosto radioso. March deitou-lhe um olhar ansioso, significativo. Gostaria de poder ficar ao pé dele. Gostaria de já se ter casado com ele, de que tudo já fosse um facto consumado. Pois sentia-se subitamente tão segura ao lado dele!... Oh, tão, tão segura!... Sentia-se tão estranhamente segura na sua presença, tão calma, tão tranquila!... Se ao menos pudesse dormir sob a sua protecção, se não tivesse de ir para cima com Jill... Sentia-se agora com medo de Jill. Naquele seu estado de semi-inconsciência, de terna lassidão e abandono, era para si uma agonia ter de subir com Jill, de se ir deitar com ela. E desejava que o rapaz a salvasse. Voltou então a olhá-lo, quase suplicante.
E ele, fitando-a com os seus olhos brilhantes, pareceu adivinhar algo do que lhe ia no espírito. Sentiu-se então angustiado e confuso por ela ter de ir com Jill.
- Não me vou esquecer do que me prometeste - disse, olhando-a bem nos olhos, mergulhando fundo dentro daqueles olhos tristes, assustados, de tal modo que dava a impressão de a abarcar por inteiro, de a envolver de corpo e alma no seu estranho olhar cintilante.
Então, ela sorriu-lhe, um ar lânguido e terno no rosto agora calmo. Voltava a sentir-se segura, segura com ele.
Mas, apesar de todas as precauções do rapaz, veio a deparar-se-lhe um sério revés. Na manhã da sua partida da quinta, convenceu March a acompanhá-lo até à cidade mais próxima, a cerca de oito milhas1 dali, em cujo mercado elas se costumavam abastecer. Uma vez aí, foram ao registo civil tratar dos banhos, declarando que desejavam casar-se. Ele estaria de volta por ocasião do Natal, pelo que o casamento deveria realizar-se por essa altura. Lá pela Primavera, esperava já poder levar March consigo para o Canadá, uma vez que a guerra tinha acabado de vez. Ainda que muito jovem, pusera já algum dinheiro de parte.
- Se possível, deve-se ter sempre algum dinheiro de reserva - declarou ele então.
Assim, ela viu-o partir no comboio que ia para oeste, pois o seu aquartelamento ficava na planície de Salisbury. Viu-o partir com os seus grandes olhos negros muito abertos, tendo a sensação de que, à medida que o comboio se afastava, parte da realidade da vida se afastava com ele, realidade representada por aquele rosto estranho, corado e bochechudo, por aquelas faces largas, por aquela expressão sempre imutada, excepto quando ensombrada pela fúria, pela ira dos sobrolhos carregados, pelos olhos extáticos, vivos e brilhantes, obsessivamente fixos numa estranha imobilidade. Era isto que agora acontecia. Debruçado da janela da carruagem enquanto o comboio se punha em andamento, lá estava ele a dizer--lhe adeus e a fitá-la de olhos fixos, uma expressão inalterada no rosto parado, nos músculos imóveis. Não havia qualquer emoção naquele rosto estático. Apenas os olhos se estreitaram num olhar fixo, intencional, quase como os de um gato ao deparar subitamente com algo que o faz estancar. Assim, os olhos do rapaz quedaram-se fixos e extáticos enquanto o comboio se afastava, deixando-a para trás com uma intensa sensação de solidão e abandono. Na falta da sua presença física, parecia-lhe que já nada restava dele, que ficava absolutamente vazia, sem nada de nada. Tão-só o seu rosto lhe ficara gravado na memória: as faces cheias, coradas, a expressão imutável, estática, o nariz comprido e rectilíneo, os olhos fixos que o encimavam. Tudo aquilo de que se lembrava era do modo como ele ria, franzindo cómica e subitamente o nariz, tal como um cachorrinho quando se põe a rosnar na brincadeira. Mas dele, de si próprio e daquilo que ele era, nada sabia, pois nada ficara dele no momento em que a deixou.
Nove dias depois de ter partido, eis que ele recebe a seguinte carta:
"CARO HENRY:
Tenho pensado muito no assunto, recapitulando tudo vezes sem conta, e parece-me agora que não há futuro para nós os dois, que é perfeitamente impossível pensarmos em ir por diante com uma tal aventura. Quando cá não estás é que vejo como fui uma louca. Enquanto te tenho ao pé, como que me deixas cega para a realidade das coisas. Fazes-me ver tudo de forma tão irreal que perco a noção das proporções, fico aturdida e confusa. Mas quando volto a ficar a sós com Jill, parece que recupero então o meu senso comum e me apercebo da grande asneira que estou a fazer e do modo injusto como te tenho tratado. Porque é tremendamente injusto para ti eu aceitar ir por diante com este romance quando, lá bem no fundo do meu coração, não consigo sentir por ti um verdadeiro amor. Bem sei que há muita gente que diz uma série de tolices e absurdos sobre o amor, mas eu não quero cair nisso. Quero, isso sim, ater-me aos factos concretos e agir com calma e sensatez. E é isso que me parece que não estou a fazer, já que não vejo por que razão irei eu casar contigo. Pois eu sei que não estou loucamente apaixonada por ti, como sempre imaginei que me iria suceder com os rapazes quando não passava ainda de uma jovem tonta, de uma rapariguinha com a cabeça cheia de fantasias. Tu és-me totalmente estranho, continuas a ser um estranho para mim e creio bem que nunca deixarás de o ser. Assim sendo, por que motivo casaria eu contigo? Quando penso na Jill, constato que ela está infinitamente mais próxima de mim. Conheço-a e tenho-lhe um grande amor, odiando-me a mim mesma como a uma besta sem coração se porventura a magoo infimamente que seja. Vivemos a nossa vida juntas e, mesmo que isso não possa durar para sempre, bem, enquanto durar sempre é uma vida, a nossa vida. E esta poderá durar enquanto ambas vivermos. Pois quem poderá saber quanto tempo iremos ainda viver? Ela é um pequenino ser, frágil e delicado, e talvez ninguém saiba bem como eu quão delicada ela é. Quanto a mim, sinto que posso muito bem cair da tripeça um dia destes. De ti é que eu sei nada, és-me totalmente desconhecido. E quando penso naquilo que tenho sido, no modo como tenho agido para contigo, então começo a recear ter alguns parafusos a menos. Custa-me pensar que uma tal senilidade mental se esteja a revelar tão precocemente, mas é isso que me parece estar a acontecer. Pois tu és-me de tal modo estranho, de tal modo diverso daquilo a que estou habituada, que não me parece que tenhamos nada em comum. E quanto a amor, a própria palavra me soa a falso, me parece absurda e impossível. Sei qual o significado do amor, até mesmo no caso da Jill, e por isso acho que no que nos diz respeito ele é uma impossibilidade absoluta. E depois mais isso de ir para o Canadá. Estou certa de que devia estar maluca de todo quando te prometi uma coisa dessas. E isso deixa-me profundamente assustada comigo mesma. Sinto que poderia muito bem vir a fazer uma loucura, a praticar qualquer acto realmente louco, de que não fosse responsável, e a ter de acabar os meus dias num manicômio. Es capaz de achar que já estou pronta para isso, tendo em conta o caminho que tenho vindo a trilhar, mas isso também não é lá muito lisonjeiro para mim. Graças a Deus que tenho aqui a Jill, pois a sua simples presença basta para me devolver o juízo. Caso contrário, não sei aquilo que faria. Poderia muito bem vir a ter um acidente com a espingarda uma noite destas. Amo a Jill e ela faz-me sentir calma e segura, restituindo-me a sanidade com as suas ternas reprimendas, com as suas amorosas zangas por eu ser tão doida e estouvada. Bom, mas aquilo que eu quero dizer é só isto: não achas melhor tentarmos esquecer tudo isto? Não posso casar contigo, pois é-me realmente impossível fazê-lo se acho isso errado. Foi tudo um grande erro, nada mais. Portei-me como uma doida varrida e tudo o que posso agora fazer é pedir-te desculpa. Por favor, peço-te que me esqueças e que não me voltes a procurar. A tua pele de raposo está quase pronta e parece-me de grande qualidade. Mandar-ta-ei pelo correio caso tenhas a amabilidade de me dizer se o teu endereço continua a ser este. Só te peço que aceites mais uma vez as minhas desculpas pela forma horrorosa e irresponsável como me comportei para contigo e que tentes esquecer o assunto.
A Jill manda-te os seus melhores cumprimentos. Os pais dela estão cá, vieram passar o Natal connosco.
Atenciosamente ELLEN MARCH."
O rapaz leu a carta no aquartelamento enquanto estava a limpar a sua mochila de apetrechos. Cerrando os dentes, ficou muito pálido por instantes, uma aura amarelada em torno dos olhos furiosos. Mas não disse palavra, deixando de ver e sentir fosse o que fosse, unicamente tomado de uma raiva surda, irracional, de uma fúria cega, quase demente. Derrotado! Derrotado mais uma vez! Frustrado! Falhado! E ele queria a mulher, ela enraizara-se-lhe na mente com a força obsessiva de um destino a cumprir, de uma sentença a executar. Possuir essa mulher era a sua perdição, o seu destino, a sua recompensa. Ela era para ele o céu e o inferno na terra, aquilo que não mais voltaria a encontrar. Cego de raiva e de fúria contida, assim passou a manhã. E se não estivesse tão ocupado a dar voltas à cabeça, magicando uma saída, planeando as mais diversas soluções, teria acabado por cometer uma loucura qualquer. Lá bem no fundo, sentia uma enorme vontade de gritar, de berrar, de ranger os dentes, de partir tudo à sua volta. Mas era demasiado inteligente para isso. Sabia que tinha de respeitar as normas sociais, que tinha de se refrear, pelo que não foi além do remoer de vinganças, do congeminar de planos, do matraquear de ideias e soluções. Assim, com os dentes cerrados e o nariz um tudo nada alçado, dando-lhe um ar extremamente curioso, qual estranha criatura demoníaca, os olhos fixos e extáticos, entregou-se aos trabalhos matinais meio ébrio de fúria e frustração mal contidas. Um só nome lhe dominava a mente: Banford. Não deu qualquer atenção ao efusivo palavreado de March, pois isso para ele não tinha importância absolutamente nenhuma. Mas, cravado na mente, havia um espinho que o torturava, dilacerante, profundo: Banford. Envenenando-lhe a mente, a alma, todo o seu ser, havia um espinho que o torturava, que o enlouquecia: Banford. E ele tinha de o arrancar. Tinha de arrancar aquele espinho da sua vida, tinha de arrancar aquele espinho que Banford encarnava, tinha de o fazer nem que morresse.
A mente obcecada por esta ideia fixa, decidiu ir pedir uma licença de vinte e quatro horas. Sabia que não tinha direito a ela, mas, possuído naquele dia de uma percepção particularmente aguda, de uma lucidez quase sobrenatural, soube de imediato onde devia dirigir-se: devia ir ter com o capitão. Mas como havia ele de descobrir o capitão? Naquele enorme aquartelamento, cheio de tendas e de barracões de madeira, não tinha a menor ideia de onde podia estar o seu capitão.
Porém, foi directo à cantina dos oficiais. E lá estava o seu capitão, de pé, a falar com três outros oficiais. Henry ficou à porta, em rígida posição de sentido.
- Posso falar com o capitão Berryman? - perguntou. Tal como ele, o capitão era natural da Cornualha.
- O que é que queres? - disse o capitão.
- Posso falar consigo, meu capitão?
- O que é que queres? - voltou a dizer o capitão, sem se mexer de onde estava, imóvel junto ao grupo dos seus camaradas.
Henry olhou o seu superior por alguns instantes sem dizer palavra.
- Não ma vai recusar, pois não, meu capitão? - perguntou então em tom de séria gravidade.
- Depende daquilo que for.
- Posso ter uma licença de vinte e quatro horas?
- Não, nem sequer tens direito a pedi-la.
- Eu sei que não, mas tenho de lha pedir.
- Pois bem, já tiveste a tua resposta.
- Por favor, não me mande embora, meu capitão.
Havia qualquer coisa de estranho naquele rapaz que ali estava à porta, tão rígido e insistente. E aquele capitão da Cornualha sentiu de imediato essa estranheza, fitando-o então com aguda curiosidade.
- Porquê, qual é a pressa? - perguntou ele, interessado.
- Estou a braços com um problema pessoal. Tenho de ir a Blewbury - respondeu o rapaz.
- Blewbury, hem? Alguma rapariga, é?
- Sim, é uma mulher, meu capitão. - E o rapaz, enquanto ali estava de pé, com cabeça ligeiramente inclinada para a frente, tornou-se - de súbito terrivelmente pálido, quase lívido, um intenso sofrimento estampado nos lábios cerrados, violáceos. Vendo isto, também o capitão se sentiu empalidecer, voltando-lhe então as costas.
- Bom, então vai lá - disse. - Mas, por amor de Deus, não te metas em barulhos nem me arranjes problemas, hem?
- Pode estar descansado, meu capitão. Muito obrigado.
Dito isto, saiu porta fora. O capitão, com um ar preocupado, tomou um gin com absinto. Henry conseguiu alugar uma bicicleta. Era meio-dia quando deixou o aquartelamento. Tinha de percorrer sessenta milhas por uma série de atalhos ensopados e lamacentos, mas, sem sequer pensar em comer, saltou para o selim e pôs-se imediatamente a caminho.
Na quinta, March dedicava-se a um trabalho que já em tempos tivera entre mãos. Um grupo de abetos escoceses erguia-se junto à extremidade do telheiro, sobre um pequeno talude por onde passava a vedação, serpenteando entre dois prados cobertos de urzes e tojo. A mais distante destas árvores estava morta. Morrera no Verão e para ali ficara com os seus ramos secos cheios de agulhas acastanhadas e murchas, erguendo-se no ar qual cadáver adiado. Não era uma árvore muito grande, além de que não havia dúvidas de que estava morta e bem morta. Assim, March decidira abatê-la, ainda que não estivessem autorizadas a cortar quaisquer árvores. Mas a verdade é que, naqueles tempos de falta de combustível, daria uma esplêndida lenha para alimentar a lareira.
Há já uma semana ou mais que ela andava a dar alguns golpes furtivos no tronco, desbastando-o de quando em vez à machadada durante uns cinco minutos, sempre junto à base e muito perto do solo, a fim de que ninguém notasse. Não tentara com a serra porque isso era um trabalho demasiado pesado para si. A árvore erguia-se agora com um profundo lanho na base do tronco, toda inclinada como que prestes a desabar, presa apenas por algum nó mais forte. Contudo, recusava-se a cair.
Estava-se em Dezembro, num fim de tarde de um dia frio e húmido. Uma névoa glacial subia dos bosques e dos vales, enquanto as trevas se adensavam por sobre os campos, prontas a tudo submergirem sob o seu manto negro. Viam-se ainda uns restos de claridade amarelada esmaecendo no horizonte, lá onde o sol começava a desaparecer por detrás dos bosques rasos perdidos na distância. March, pegando no machado, dirigiu-se para a árvore. O baque surdo dos seus golpes, ressoando, débeis, por sobre a quinta, soava de modo assaz ineficaz no ar invernio. Banford viera até cá fora vestida com o seu casaco grosso, mas, dado não trazer chapéu na cabeça, os seus cabelos, curtos e ralos, esvoaçavam sob o vento desagradável que se fazia sentir, zunindo por sobre o bosque, silvando por entre os pinheiros.
- Aquilo de que tenho medo - dizia Banford - é que venha a cair sobre o barracão e que lá tenhamos nós de ter mais um trabalhão a repará-lo.
- Oh, não me parece - respondeu March, endireitando-se e passando o braço pela testa alagada em suor. Estava terrivelmente afogueada, o rosto todo vermelho, com uma expressão bizarra nos olhos muito abertos, o lábio superior levantado, deixando à mostra os seus dois incisivos, muito brancos e brilhantes, que lhe davam um curioso ar de coelho.
Um homem baixo e corpulento, com um sobretudo preto e um chapéu de coco, chegou saltitando através do pátio. Tinha um rosto rosado e uma barba branca, com uns olhos pequeninos, de um azul pálido. Ainda não era muito velho, mas tinha ar de ser nervoso, no seu andar curto e miúdo.
- O que acha, pai? - perguntou Banford. - Não acha que pode atingir o barracão quando cair?
- O barracão? Não! Que ideia! - replicou o velhote. - E impossível atingir o barracão. A vedação já não digo, mas o barracão...
- A vedação não tem importância - disse March na sua voz forte.
- Como sempre, só digo asneiras - volveu Banford, afastando dos olhos o cabelo em desalinho.
A árvore mantinha-se de pé como presa de um só músculo, inclinada e plangente sob aquele vento forte. Crescera num talude entre dois prados, por sobre uma pequena vala agora seca. No topo do talude, erguia-se uma vedação solitária, algo desgarrada, subindo em direcção aos arbustos do cimo do monte. Erguiam-se ali diversas árvores, agrupadas naquele canto do campo, perto do barracão e do portão que dava para o pátio. Na direcção deste portão, estendendo-se horizontalmente ao longo dos prados monótonos e iguais, ficava a vereda, irregular e ervosa, que levava à estrada lá ao fundo. Aí havia uma outra vedação, já meio arruinada e periclitante arrastando-se campo fora com as suas compridas traves apodrecidas apoiadas em estacas curtas e grossas, bastante afastadas umas das outras. Os três estavam de pé, atrás da árvore, no canto do prado junto ao barracão, logo acima do portão do pátio. A casa, com as suas duas empenas e um alpendre, erguia-se, aprumada, no meio de um pequeno quintal relvado existente no pátio. Uma mulher atarracada e gorducha, de rosto corado, com um xaile de lã vermelha pelos ombros, surgiu então à porta, detendo-se depois sob o alpendre.
- Então, ainda não a deitaram abaixo? - exclamou, numa voz fraca e esganiçada.
- Está-se a pensar nisso - respondeu o marido. O tom com que falava com as duas raparigas era sempre algo trocista e mordaz. March não queria continuar a tentar derrubar a árvore enquanto ele ali estivesse. Pois, quanto a ele, nem um palito se incomodaria a levantar do chão se o pudesse evitar, queixando-se, à semelhança da filha, de ter um ombro apanhado de reumatismo. Assim, deixaram-se estar ali os três parados, momentaneamente imóveis e silenciosos na tarde fria, de pé junto ao pátio no canto mais afastado do campo.
Ouviram então o bater longínquo de um portão, pelo que viraram a cabeça para ver quem seria. Perdido na distância, vindo pela vereda verdejante, horizontal e plana, viram um vulto que nesse instante voltava a saltar para uma bicicleta, avançando aos solavancos por entre as ervas que atulhavam o caminho, em direcção ao portão da quinta.
- Mas é um dos nossos rapazes! Jack, creio - disse o velhote.
- Não, não pode ser - disse Banford por seu turno.
March virou também a cabeça, esticando o pescoço para ver melhor. E só ela reconheceu aquele vulto de caqui, corando sem dizer palavra.
- Não, não me parece que seja Jack - disse o velhote, fitando a distância com os seus olhinhos azuis, muito redondos sob as pestanas brancas.
Decorridos alguns instantes, a bicicleta surgiu à vista, sempre ziguezagueante, posto o que o ciclista se apeou junto ao portão. Era Henry, o rosto encharcado e vermelho, todo sujo de lama. Aliás, da cabeça aos pés, todo ele era lama.
- Oh! - exclamou Banford, como que subitamente receosa. - Mas é o Henry!
- O quê! - exclamou o velhote em voz surda. Tinha uma forma de falar muito curiosa, algo pastosa e rápida, como se andasse sempre a resmungar entredentes, além de também ser um pouco surdo. - O quê? O quê? Quem é? Quem é que disseste que era? O tal rapaz? O tal rapaz da Nellie? Oh! Oh! - E um sorriso irónico espelhou-se-lhe no rosto rosado, as pestanas brancas moven-do-se rápidas e trocistas.
Henry, afastando o cabelo molhado da fronte húmida e quente, já os tinha visto. E, ao ouvir o que o velhote dissera, o seu rosto jovem, afogueado e vermelho, pareceu incendiar-se num súbito fulgor faiscante, brilhando, luminoso, à luz crua daquela dia frio.
- Oh, estão todos aqui! - disse então ele, soltando aquele seu riso de cachorrinho, rápido e breve. Sentia-se tão afogueado e tonto de tanto pedalar que mal sabia onde estava. Encostando a bicicleta à vedação, saltou então por ela. Depois, sem entrar no pátio, trepou até ao canto onde ficava o talude.
- Bem, devo dizer que não estávamos à sua espera - disse Banford, lacónica.
- Sim, parece-me bem que não - respondeu ele, olhando para March.
Esta estava um pouco afastada, mantendo--se de pé com um joelho dobrado, um ar ausente no rosto inexpressivo, o machado pendendo-lhe da mão num gesto de abandono, com a ponta apoiada no chão. Tinha os olhos muito abertos, vazios e abstractos, com o lábio superior levantado e os dentes à mostra, dando-lhe aquele estranho ar de coelho, misto de fascínio e desalento. No exacto momento em que vira aquele rosto rubro e coruscante, tudo acabara para ela. Sentia-se tão indefesa como se estivesse amarrada de pés e mãos. Sim, no exacto momento em que vira a forma como aquela cabeça parecia adiantar-se, atirada para a frente, tudo acabara para ela.
- Bom, mas afinal quem é? Então, não me dizem quem é? - perguntou o velhote, sorridente e trocista, naquele seu tom resmungado.
- Ora essa, pai, bem sabe quem é. E o senhor Grenfel, de quem já nos ouviu falar - respondeu friamente Banford.
- Sim, acho que sim, já te ouvi falar dele. Mas, à parte isso, não sei praticamente nada a seu respeito - resmungou o ancião, com aquele seu curioso risinho sarcástico espelhado no rosto. - Como está? - acrescentou depois, estendendo subitamente a mão a Henry.
O rapaz apertou-lhe a mão como que surpreendido. Depois, voltaram a afastar-se.
- Então veio a pedalar todo o caminho desde a planície de Salisbury, não é assim? - perguntou o velhote.
- Sim, é verdade.
- Ah! Grande esticão!... E quanto tempo levou, hem? Muito tempo, não? Presumo que várias horas.
- A roda de quatro, sim.
- Quatro, hem? Sim, logo pensei que devia andar por aí. E então quando é que tem que voltar?
- Tenho licença até amanhã à tarde.
- Até amanhã à tarde, disse? Sim, senhor, muito bem. Ah! As raparigas não estavam à sua espera, pois não?
E o velhote, virando-se para as raparigas, olhou-as com os seus olhinhos trocistas, uns olhos redondos e azuis, de um azul pálido muito brilhante sob as pestanas brancas. Henry olhou também à sua volta. Começava a sentir-se um pouco embaraçado. Olhou então para March, que continuava imóvel, olhos fixos na distância como que a ver por onde andava o gado. Tinha a mão assente no cabo do machado, a lâmina negligentemente pousada no chão.
- Que estavam aqui a fazer? - perguntou ele, na sua voz suave e cortês. - A deitar abaixo uma árvore?
March parecia não o ouvir, extática como se estivesse em transe.
- É verdade - respondeu Banford. - Há já uma semana que andamos a tentar derrubá-la.
- Oh! Então têm feito todo o trabalho sozinhas, não?
- A Nellie é que tem, eu cá por mim não fiz nada - retorquiu Banford.
- Palavra? Nesse caso, deves ter tido muito trabalho - disse então ele, dirigindo-se directamente a March num tom de voz algo estranho, apesar de gentil e cortês. Mas ela não respondeu, mantendo-se um pouco de lado, os olhos obsessivamente fixos na distância, olhando os bosques lá ao fundo como que hipnotizada.
- Nellie! - gritou Banford em voz aguda. - Não sabes responder?
- Quem, eu? - exclamou March, só então se virando para os olhar. - Alguém falou comigo?
- Está na lua, é o que é! - resmoneou o velhote, virando o rosto num sorriso. - Deve estar apaixonada, hem, assim a sonhar acordada!...
- Falaste comigo, foi? - disse March, olhando então para o rapaz de uma forma estranha, como se acabasse de voltar de muito longe, um ar de dúvida nos olhos abertos, interrogativos, o rosto levemente ruborizado.
- Disse que deves ter tido muito trabalho com a árvore, que deves andar muito cansada - respondeu ele cortesmente.
- Oh, isso! Dei-lhe umas machadadas de quando em vez, pensando que acabaria por cair.
- Graças aos céus que não caiu durante a noite, caso contrário teríamos morrido de susto - disse Banford.
- Deixa-me acabar isto por ti, está bem? - pediu o rapaz.
March estendeu então o machado na sua direcção, o cabo virado para ele.
- Não te importas? - perguntou.
- Claro que não, se me deres licença - respondeu ele.
- Oh, cá por mim fico satisfeita quando a vir por terra! Só isso interessa, nada mais - volveu ela em tom negligente.
- Para que lado irá cair? - disse Banford. - Será que pode cair sobre o barracão?
- Não, não deve atingir o barracão - respondeu ele. - Acho que irá cair além, em terreno aberto. Quanto muito, poderá dar uma volta e cair sobre a vedação.
- Cair sobre a vedação! - exclamou o velhote. - Ora essa, cair sobre a vedação! Inclinada como está, com um ângulo destes?
Além de que ainda é mais longe do que o barracão! Não, sobre a vedação é que não vai cair.
- Realmente - atalhou Henry -, isso é muito improvável. Acho que tem razão, tem muito espaço livre para cair. E, deve cair em terreno aberto.
- Espero que não vá cair para trás, abatendo-se sobre as nossas cabeças! - disse o velhote, sarcástico.
- Não, isso não vai acontecer - respondeu Henry, tirando a samarra e o casaco. - Toca a andar, patos, fora daqui!
Vindos do prado acima, uma fila de quatro patos brancos com pintas acastanhadas, conduzidos por um macho castanho e verde, vinham disparados colina abaixo, vogando como barcos em mar encapelado, os bicos abertos, furiosos, enquanto desciam em grande velocidade por ali abaixo em direcção à vedação e ao pequeno grupo ali reunido, grasnando numa tal excitação que dir-se-ia trazerem novas da Armada Espanhola.
- Oh, grandes tontinhos, grandes tontinhos! - gritou Banford, indo até junto deles para os afugentar dali. Mas eles dirigiram-se impetuosamente ao seu encontro, abrindo os bicos amarelo esverdeados e grasnando como se estivessem excitadíssimos para lhe comunicar uma qualquer novidade.
- Aqui não há comida, não há nada para vocês. Esperem um bocado que já comem - dizia-lhes Banford. - Vá, vão-se embora, vão--se embora! Dêem a volta, vão para o pátio!
Mas, como eles não lhe obedeciam, ela decidiu-se a trepar a vedação a fim de ver se os desviava dali, de modo a que dessem a volta por debaixo do portão e entrassem no pátio. E lá foram eles atrás, a abanarem-se novamente todos excitados, sacudindo o rabo como popas de pequeninas gôndolas ao mergulharem por debaixo da grade do portão. Banford parou então no alto do talude, imediatamente acima da vedação, ficando ali de pé a olhar para os outros três lá em baixo.
Erguendo os olhos, Henry fitou-a, indo ao encontro daqueles olhos mirrados e fracos, daquelas pupilas arredondadas e estranhas que o miravam por detrás dos óculos. Perfeitamente imóvel, olhou então para cima, para a árvore inclinada e instável. E, enquanto olhava para o céu, como um caçador observando o voo da ave que se propõe abater, pensou para consigo: "Se a árvore cair da forma que parece indicar, dando uma volta no ar antes da queda, então aquele ramo além vai abater-se sobre ela, no ponto exacto em que ela está, de pé no cimo daquele talude."
Voltou então a olhá-la. Lá estava ela, a afastar os cabelos da testa, naquele seu gesto tão habitual e constante. No fundo do seu coração, ele já decidira que ela tinha de morrer. Uma força terrível, paralisante, pareceu nascer dentro de si à semelhança de um poder de que fosse ele o único detentor. Se se voltasse, se fizesse qualquer movimento, mesmo que ínfimo como um cabelo, na direcção errada, então aquele poder fugir-lhe-ia, esfumar-se-ia instantaneamente.
- Tenha cuidado, Miss Banford - disse então ele. E o seu coração como que se imobilizou, inteiramente possuído daquela vontade pura, daquele desejo indómito de que ela não se movesse.
- Quem, eu? Quer que eu tenha cuidado, é? - gritou-lhe Banford, numa voz possuída do mesmo tom sarcástico do pai. - Porquê, pensa que me pode atingir com o machado, é isso?
- Não, mas no entretanto pode dar-se o caso de ser a árvore a atingi-la - respondeu ele numa voz neutra. Contudo, o tom em que falou fê-la deduzir que ele estava tão-só a ser falsamente solícito no intuito de a levar a mover-se, no prazer de a ver vergar, obediente, sob a sua vontade.
- Isso é absolutamente impossível - disse ela então.
Ele ouviu-a. Contudo, manteve a sua imobilidade de estátua, quedando-se hirto e parado como um bloco de gelo, não fosse o seu poder esvair-se.
- Não, olhe que é sempre uma hipótese. Acho melhor descer por aquele lado.
- Oh, está bem, deixe-se disso! Vamos mas é a ver essa famosa arte dos Canadianos a abater árvores - replicou ela.
- Então, atenção! - disse ele, pegando no machado e olhando à sua volta para ver se tinha espaço livre.
Houve um momento de pausa, de pura imobilidade, em que o mundo pareceu deter--se, suspenso daquele instante. Então, a sua silhueta pareceu de súbito irromper do nada, avolumando-se gigantesca e terrível, para logo desfechar dois golpes rápidos, fulgurantes, um após outro em sucessão imediata, fazendo com que a árvore finalmente abatida, girasse lentamente, num estranho rodopiar de parafuso, fendendo o ar até descer sobre a terra como um súbito manto de trevas. E só ele viu aquilo que então aconteceu. Só ele ouviu o estranho grito que Banford soltou, um grito débil e abafado, quando viu os ramos superiores a abaterem-se, aquela sombra negra descendo, célere, sobre a terra, desabando, terrível, sobre si. Só ele viu como ela se encolheu, num gesto tímido e instintivo, recebendo na nuca toda a força da pancada. Só ele viu como ela foi atirada longe, como acabou por se estatelar, feita uma massa informe e retorcida, aos pés da vedação. Só ele, mais ninguém. E o rapaz viu tudo isto com uns olhos muito abertos e brilhantes, tão fixos e intensos como se observasse a queda de um pato-bravo que acabasse de abater. Estaria ferida, estaria morta? Não, estava morta. Morta!
De imediato, deu um grande grito. Simultaneamente, March soltou um grito agudo, selvagem, quase que um guincho, que ecoou longe na distância, repercutindo-se, sonoro, na tarde fria e parada. Quanto ao pai de Banford, emitiu um estranho urro, longo e abafado.
O rapaz saltou a vedação e correu para a figura ali caída. A nuca e a cabeça não passavam de uma massa informe, sangue e horror em partes iguais. Virou-a então de costas. O corpo fremia ainda em rápidas convulsões, secas e breves. Mas já estava morta, já estava de facto morta. Ele sabia que assim era, sentia-o na alma e no sangue. Cumpria-se assim aquela sua necessidade interior, aquela exigência vital, imperiosa, sendo ele o sobrevivente. Sim, fora ele quem sobrevivera, arrancado que fora o espinho que até então lhe revolvera as entranhas. Assim, pousou-a gentilmente no chão. Estava morta, disso não havia dúvidas.
Erguendo-se, viu March que se quedara hirta como que petrificada, ali parada absolutamente imóvel, dir-se-ia que presa ao chão por uma força invisível. Tinha o rosto mortalmente pálido, os olhos negros transformados em dois grandes abismos aquosos, trevas e dor bailando-lhe nas pupilas. O velhote tentava escalar a vedação, horrível de ver na incoerência e no esforço.
- Receio bem que tenha morrido - disse então o rapaz.
O velhote chorava de uma forma estranha, soluçada, emitindo curiosos ruídos enquanto se apressava por sobre a vedação.
- O quê! - gritou March, como que electrizada.
- Sim, receio bem que sim - repetiu o rapaz.
March vinha agora a caminho. Adiantando-se-lhe, o rapaz atingiu a vedação antes de ela lá conseguir chegar.
- Que estás a dizer, morta, como? - perguntou em voz aguda.
- Assim mesmo, morta. Receio bem que esteja morta - respondeu ele com enorme suavidade.
Ela tornou-se então ainda mais pálida, terrivelmente pálida e branca. E ficaram ali os dois a olhar um para o outro. Os seus olhos negros muito abertos fitavam-no num último lampejo de resistência. Depois, finalmente quebrada na agonia da dor, começou a choramingar, a chorar de uma forma contida, o corpo sacudido por estremeções, à semelhança de uma criança que não quer chorar mas que, destruída por dentro, solta aqueles primeiros soluços, sacudidos e fracos, que antecedem a irrupção do choro, do brotar das lágrimas, aqueles primeiros soluços secos, devastadores, terríveis.
Ele ganhara. Ela quedava-se ali de pé, abandonada e só, no mais total desamparo, o corpo sacudido por aqueles soluços secos, os lábios percorridos por um tremor rápido, espasmódico. E então, precedidas de uma pequena convulsão como acontece com as crianças, vieram as lágrimas, a agonia cega dos olhos turvos, rasos de água, do choro desgastante e infindo, dos olhos gastos até à última gota. Caiu depois por terra, ficando sentada na relva com as mãos sobre o peito e o rosto erguido, os olhos toldados por aquele choro convulsivo. Ele ficou de pé, olhando-a de cima, qual estátua pálida e muda, como que subitamente imobilizado para toda a eternidade. Sem se mover, quedou-se assim imóvel a olhar para ela. E, apesar da tortura que tal cena lhe causava, apesar da tortura do seu próprio coração, da tortura que lhe enovelava as entranhas, ele rejubilava. Ganhara, finalmente.
Longo tempo volvido, debruçou-se enfim sobre ela, pegando-lhe na mão.
- Não chores - disse-lhe então com doçura. - Não chores.
Ela olhou para ele por entre as lágrimas que lhe escorriam olhos abaixo, um ar abstracto no rosto desamparado e submisso. Assim, deixou-se estar de olhos pregados nos dele como se não o visse, como se subitamente cega, sem vista, apesar de continuar a olhá-lo de rosto erguido. Sim, não mais voltaria a deixá-lo. Ele tinha-a conquistado. E ele sabia disso, por isso rejubilava. Pois queria-a para sua mulher, a sua vida necessitava dela. E agora conquistara-a. Conquistara-a, conquistara finalmente aquilo de que a sua vida tanto necessitava.
Mas, se bem que a tivesse conquistado, ela ainda lhe não pertencia. Casaram, pois, pelo Natal conforme planeado, pelo que ele voltou a obter uma licença de dez dias. Foram então para a Cornualha, para a aldeia donde ele era natural, mesmo junto ao mar. Pois ele apercebera-se de que seria terrível para ela continuar na quinta por muito mais tempo.
Mas, ainda que ela agora lhe pertencesse, ainda que vivesse na sua sombra, como se não pudesse estar longe dele, a verdade é que ela não era feliz. Não que quisesse abandoná-lo, isso nunca, mas também não se sentia livre ao pé dele. Tudo à sua volta parecia espiá-la, pressioná-la. Ele tinha-a conquistado, tinha-a ao seu lado, fizera dela sua mulher. Quanto a ela, ela pertencia-lhe e sabia-o. Contudo, não era feliz. E também ele continuava a sentir-se frustrado. Apercebera-se de que, apesar de ter casado com ela e de, aparentemente, a ter possuído de todas as formas possíveis, apesar, inclusive, de ela querer que ele a possuísse, de ela o querer com todas as forças do seu ser, nada mais desejando para lá disso, a verdade é que não se sentia plenamente realizado, como se houvesse algures uma falha indetectada.
Sim, faltava, de facto, qualquer coisa. Pois ela, em vez da sua alma rejubilar com a nova vida que agora tinha, parecia antes definhar, exaurir-se, sangrar como se estivesse ferida. Assim, ficava longo tempo com a sua mão na dele, olhando o mar. Mas nos seus olhos negros e vadios havia como que uma espécie de ferida, o rosto ligeiramente mais magro, mais mirrado. E caso ele lhe falasse, ela virar--se-ia para ele com um sorriso diferente, débil e baço, o sorriso trémulo e ausente de uma mulher que, morta a sua antiga forma de amar, ainda não conseguira despertar para a nova forma de amor que agora lhe era dado experimentar. Pois ela continuava a sentir a necessidade de fazer qualquer coisa, de se esforçar em qualquer direcção. E ali não havia nada para fazer, não havia direcção em que pudesse esforçar-se. Além disso, não conseguia aceitar totalmente aquela espécie de apagamento, de submersão, que a nova forma de amar parecia exigir-lhe. Pois, estando apaixonada, sentia-se na necessidade de, de uma forma ou de outra, dar prova desse mesmo amor exteriorizando-o. Sentia-se dominada pela enervante necessidade, tão comum nos nossos dias, de dar prova do amor que se tem por alguém. Mas sabia que, na verdade, devia deixar de continuar a querer dar prova do seu amor. Pois ele não aceitaria esse amor, um amor que tinha de dar prova de si mesmo, o amor de que ela queria dar prova perante ele. Sempre que tal sucedia, ele ficava sombrio, um ar de desagrado no rosto carregado. Não, ele não a deixaria dar prova do seu amor para com ele. Não, ela tinha de ser passiva, aquiescente, de se deixar apagar, de se deixar submergir sob as águas calmas do amor. Ela tinha de ser como as algas que costumava ver ao passear de barco, balouçando suave e delicadamente, para sempre submersas sob as águas, com todas as suas delicadas fibrilas para fora, estendidas num doce ondular, vergadas e passivas sob a força da corrente, delicadas, sensíveis, numa entrega total, absoluta, abandonando-se, em toda a sua sensibilidade, em toda a sua receptividade, sob as águas escuras do mar envolvente, sem nunca, mas nunca, tentarem subir, emergir de sob as águas enquanto vivas. Não, nunca. Nunca emergem de sob as águas enquanto vivas, só depois de mortas, quando, já cadáveres, sobem então à tona, levadas pela maré. Mas, enquanto vivas, mantêm-se sempre submersas, sempre sob as ondas. E, contudo, apesar de jazerem sob as ondas, podem criar poderosas raízes, raízes mais fortes que o próprio ferro, raízes que podem ser tenazes e perigosas no seu suave ondular, batidas pelas correntes.
Jazendo sob as ondas, podem, inclusive, ser mais fortes e indestrutíveis do que os orgulhosos carvalhos que se erguem sobre a terra. Mas sempre, sempre submersas, sempre sob as águas. E ela, sendo mulher, teria de ser assim, teria de aprender a ser como essas algas.
Mas ela estava de tal modo acostumada a ser precisamente o oposto! Sempre tivera de chamar a si todas as responsabilidades, todas as preocupações, sempre tivera de ser ela a ocupar-se do amor e da vida. Dia após dia, tornara-se responsável pelo novo dia, pelo novo ano, pela saúde da sua querida Jill, pela sua felicidade, pelo seu bem-estar. Na verdade, e na medida da sua própria pequenez, acabara por se sentir responsável pelo bem--estar de todo o mundo. E o seu grande estimulante fora precisamente esse maravilhoso sentimento, esse sentimento de que, à escala da sua reduzida dimensão, ela era responsável pelo bem-estar do mundo inteiro.
E falhara. Falhara e sabia-o, sabia que, mesmo à sua pequena escala, acabara por falhar. Falhara em não conseguir satisfazer o seu próprio sentido das responsabilidades. Pois tudo lhe fora tão difícil! De início, tudo lhe parecera fácil, tudo lhe parecera belo. Mas, quanto mais se esforçava, mais difíceis as coisas se tornavam. Parecera-lhe tão fácil tornar feliz um ente querido! Mas não, fora terrível.
Toda a sua vida se esforçara, toda a sua vida tentara alcançar algo que parecia estar tão próximo, quase ao alcance da mão, gastando--se e consumindo-se até ao extremo limite das suas forças, para só então se dar conta de que isso estava sempre para além de si.
Sempre inatingível, sempre para além de si, irrealizável e vago, até que, por fim, acabara por se ver sem nada, totalmente despojada e vazia. A vida por que lutara, a felicidade que sempre almejara, o bem-estar por que tanto se esforçara, tudo resvalou no abismo, tornando--se vago e irreal, por mais longe que ela tentasse ir, as mãos estendidas, anelantes e vazias. Quisera ter um objectivo, uma finalidade por que lutar, mas não, não havia nada, só o vazio. E sempre aquela horrível busca, aquele constante esforço, aquele empenhamento em alcançar algo que talvez estivesse logo ali, logo ali ao virar da esquina. Até mesmo na sua tentativa de tornar Jill feliz, até mesmo aí falhara. Agora quase que se sentia aliviada por Jill ter morrido. Pois apercebera-se de que nunca a conseguiria fazer feliz. Jill nunca deixaria de se preocupar, sempre atormentada e aflita, cada vez mais mirrada, cada vez mais fraca. Em vez de diminuírem, as suas preocupações e dores nunca deixariam de aumentar. Sim, havia de ser sempre assim, havia de ser sempre assim até ao findar dos tempos. E, na verdade sentia--se aliviada, quase feliz por ela ter morrido.
Mas se, em vez disso, se tivesse casado com um homem, tudo teria sido igual. Sempre com a mulher a esforçar-se, a esforçar-se por tornar o homem feliz, a empenhar-se dentro dos seus limitados recursos pelo bem-estar do seu pequeno mundo. E nada obtendo senão o fracasso, um constante e enorme fracasso. Quanto muito, só pequenos e ilusórios sucessos, frivolidades tão aburdas como o dinheiro ou a ambição. Mas no aspecto em que verdadeiramente mais desejaria triunfar, no angustiado esforço de tentar tornar feliz e perfeito um qualquer ente amado, então aí o fracasso revelava-se total, quase catastrófico. Deseja-se sempre tornar feliz o ser amado, parecendo--nos que a sua felicidade está perfeitamente ao nosso alcance. Basta que façamos isto, aquilo e aqueloutro. E empenhamo-nos com toda a boa-fé, fazemos tudo e mais alguma coisa, mas, de cada vez, o falhanço parece crescer mais e mais, agigantar-se, medonho e terrível. Podemos, inclusive, lançar por terra o nosso amor-próprio, esforçarmo-nos e lutarmos até aos ossos sem que as coisas melhorem, antes pelo contrário, com tudo a piorar de dia para dia, indo de mal a pior, e bem assim a almejada felicidade. Oh, a felicidade! Que medonho engano, não é!
Pobre March! Com toda a sua boa vontade e sentido das responsabilidades, ela esforçara-se até mais não, esforçara-se e lutara até começar a ter a sensação de que tudo, de que toda a vida não passava de um horrível abismo de poeira e vazio. Quanto mais nos esforçamos por alcançar a flor fatal da felicidade, tremulando, tão amorosa e azul, na beira de um barranco quase ao alcance da mão, tanto mais assustados ficamos ao apercebermo-nos do horrível e pavoroso abismo do precipício que se abre aos nossos pés, no qual acabaremos inevitavelmente por cair, como num poço sem fundo, se tentarmos ir mais longe. E então colhe-se flor após flor, mas nunca a flor, nunca aquela por que tanto ansiamos. Pois essa flor oculta no seu cálice, qual poço sem fundo, um pavoroso abismo, um abismo de trevas e voragem, insondável, tenebroso.
Eis toda a história da busca da felicidade, quer seja a nossa ou a de outrem que se pretenda atingir. Tal busca acaba sempre, mas sempre, na horrível sensação de haver um poço sem fundo, um abismo de pó e nada no qual acabaremos inevitavelmente por cair se se tentar ir mais longe.
E as mulheres? Que outro objectivo pode uma mulher conceber senão a felicidade? Só a felicidade e nada mais que a felicidade, a felicidade para si própria e para todos aqueles que a rodeiam, a felicidade para o mundo inteiro, em suma. Só isso, nada mais. E assim, assume todas as responsabilidades inerentes e parte em busca do almejado objectivo. Quase que o pode ver ali, logo ali no fim do arco-íris. Ou então um pouquinho mais além, no azul da distância. De qualquer das formas, não muito longe, nunca muito longe.
Mas o fim do arco-íris é um abismo sem fundo, perdendo-se terra adentro, no qual se pode mergulhar sem nunca se chegar a lado algum, e o azul da distância é um poço de vazio que nos pode engolir, a nós e a todos os nossos esforços, no vácuo da sua voracidade sem por isso deixar de ser um abismo sem fim, um abismo de trevas e de nada. Sim, a nós e a todos os nossos esforços. Assim é a incessante perseguição da felicidade, sempre tão ilusoriamente ao nosso alcance!
Pobre March! Ela que partira com tão admirável determinação em busca da meta entrevista no azul da distância. E quanto mais longe ia, tanto mais terrível se tornava a noção da vacuidade envolvente. Por último, tal percepção tornara-se para si numa fonte de dolorosa agonia, numa sensação de insanidade, de loucura.
Estava feliz por tudo ter acabado. Estava feliz por se poder sentar na praia a olhar o poente por sobre o mar, sabendo que tudo acabara, que todo aquele formidável esforço chegara ao fim. Nunca mais voltaria a lutar pelo amor e pela felicidade. Não, nunca mais. Pois Jill estava agora segura, salva pela morte. Pobre Jill, pobre Jill! Como devia ser doce estar morta!
Mas, quanto a si, o seu destino não se cumpria na morte. Tinha de deixar o seu destino nas mãos daquele rapaz. Só que o rapaz pretendia muito mais do que isso, muito mais. Ele pretendia que ela se lhe entregasse sem reservas, que se deixasse afundar, submergir por ele. E ela, ela só desejava poder quedar-se imóvel, ficar ali sentada a olhar a distância como uma mulher que chegou ao fim do caminho, como uma mulher que, atingida a última etapa, pára por fim para descansar. Ela queria ver, saber, compreender. Ela queria estar sozinha, ficar só, com ele a seu lado, sim, mas só.
Oh, mas ele!... Ele não queria que ela observasse mais nada, que continuasse a ver ou a compreender fosse o que fosse. Ele queria velar-lhe o seu espírito de mulher como os Orientais usam velar o rosto das suas esposas. Ele queria que ela se lhe entregasse de corpo e alma, que adormecesse o seu espírito de independência. E queria libertá-la de todo o esforço de realização, de tudo aquilo que parecia ser a sua verdadeira raison d'etre. Ele queria torná-la submissa, rendida, queria que ela deixasse cegamente para trás toda a sua vívida consciência, abandonando-a de vez e para sempre. Queria extirpar-lhe essa consciência, queria que ela se tornasse tão-só sua mulher, sua mulher e nada mais. Nada mais.
Ela sentia-se tão cansada, tão cansada, quase como uma criança que se sente cheia de sono mas que luta contra isso como se dormir fosse sinónimo de morrer. Assim, os seus olhos pareciam dilatar-se mais e mais, tensos e rasgados, no esforço obstinado de se manter acordada. Ela tinha de se manter acordada. Tinha de saber. Tinha de ponderar, ajuizar e decidir. Tinha de manter bem firmes nas mãos as rédeas da sua própria vida. Tinha de ser uma mulher independente até ao fim. Mas estava tão cansada, tão cansada de tudo e de todos... E tinha tanto sono, tanto sono... Sentia-se tão quebrada ali ao pé do rapaz, ele transmitia-lhe uma tal calma, uma tal tranquilidade...
Contudo, os olhos dilatavam-se-lhe mais e mais, ali sentada num recanto daqueles altos penhascos bravios da Cornualha Ocidental, olhando o poente por sobre as águas do mar, olhando para oeste, lá onde ficavam o Canadá e a América. Ela tinha de saber, tinha de conseguir ver aquilo que estava para vir, aquilo que a esperava para lá do horizonte. Sentado a seu lado, o rapaz olhava as gaivotas que voavam mais abaixo, um ar sombrio no rosto carregado, os olhos tensos, descontentes. Ele queria vê-la adormecida e em paz a seu lado. Queria que ela se lhe abandonasse, queria ser o seu sono e a sua paz. E ali estava ela, quase morta pelo esforço insano da sua própria vigília. Contudo, ela nunca adormeceria. Não, nunca. Às vezes, ele pensava amargamente que teria sido melhor abandoná-la, que nunca devia ter matado Banford, que devia ter deixado que Banford e March se matassem uma à outra.
Mas isso era mera impaciência e ele sabia-o. Estava à espera, à espera de poder partir para oeste. E desejava ansiosamente partir, era quase um suplício ter de continuar à espera de poder deixar a Inglaterra, de poder ir para oeste, de poder levar March consigo. Oh, que ânsias de deixar aquela costa! Pois tinha esperança de que, quando fossem já por sobre as ondas, cruzando os mares com a Inglaterra finalmente para trás, aquela Inglaterra que ele tanto odiava, talvez porque, de certa forma, esta parecia tê-lo envenenado, ter-lhe espetado o seu ferrão, ela acabaria finalmente por adormecer, fechara finalmente os olhos, dando-se-lhe sem reservas.
E então ela seria finalmente sua e ele poderia, por fim, viver a sua própria vida, a vida por que tanto ansiava. Agora sentia-se irritado e aborrecido, sabendo que ainda não alcançara essa vida que desejava viver. E nunca a alcançaria enquanto ela não se rendesse, enquanto ela não adormecesse de vez, entregando-se-lhe, dissolvendo-se nele. Então sim, então ele já poderia viver a sua própria vida enquanto homem e enquanto macho, tal como ela já poderia viver a dela enquanto mulher e enquanto fêmea. E deixaria para sempre de haver esta medonha tensão, este esforço tenaz, obstinado, insano. Ela nunca mais voltaria a parecer um homem, a querer ser uma mulher independente com responsabilidades de homem. Não, nunca mais, pois até mesmo a responsabilidade pela sua própria alma ela teria de lhe confiar, de entregar nas suas mãos. Ele sabia que tinha de ser assim, por isso lhe fazia obstinadamente frente, esperando a sua rendição.
- Sentir-te-ás melhor uma vez que tenhamos partido, cruzando os mares em direcção ao Canadá, lá diante - disse-lhe ele quando se sentaram nas rochas por sobre o penhasco.
Ela olhou então para o horizonte, lá onde o céu e o mar se confundiam, como se este não fosse real. Depois, voltando-se para ele, olhou-o com aquela estranha expressão de esforço de uma criança em luta contra o sono.
- Achas que sim? - perguntou.
- Sim, acho que sim - respondeu ele calmamente.
As pálpebras descaíram-lhe então ligeiramente, num movimento lento, suave, quase imperceptível, sob o peso involuntário do sono. Mas, voltando a erguê-las, abriu os olhos e disse:
- Sim, talvez. Não sei dizer. Não faço ideia de como as coisas se irão passar depois de lá chegarmos.
- Ah, se ao menos pudéssemos partir depressa! - exclamou ele, numa voz dolorida.
As duas raparigas eram vulgarmente conhecidas pelos seus apelidos, Banford e March. Juntas, tinham tomado conta da quinta, pretendendo fazê-la funcionar sem a ajuda de ninguém: ou seja, dispunham-se a criar galinhas, sobreviver com a venda das aves, e, além disso, arranjar uma vaca e criar um ou dois novilhos. Infelizmente, as coisas não lhes correram bem.
Banford era pequena, magra, uma figurinha delicada com uns óculos. Contudo, era a principal investidora, já que March pouco ou nenhum dinheiro tinha. O pai de Banford, que era negociante em Islington, deu à filha uma ajuda inicial, primeiro a pensar na sua saúde e depois porque a amava, além de que não lhe parecia provável que ela algum dia se viesse a casar. March era mais robusta. Aprendera carpintaria e marcenaria em Islington, num curso nocturno que aí frequentara. Seria ela o homem da casa. Além do mais, o velho avô de Banford viveu com elas nos primeiros tempos. Outrora, tinha sido lavrador. Mas, infelizmente, o velho morreu passado um ano de estar com elas em Bailey Farm. E então as duas raparigas ficaram sozinhas.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/O_RAPOSO.jpg
Nenhuma delas era nova: isto é, andavam à volta dos trinta. Mas é claro que não eram velhas. E meteram mãos à obra com grande coragem. Tinham inúmeras galinhas, Leghorns pretas e brancas, Plymouths e Wyandots; também tinham alguns patos e duas vitelas nos campos de pastagem. Infelizmente, uma delas recusou-se em absoluto a permanecer nos cercados de Bailey Farm. Fosse como fosse que March fizesse as vedações, a vitela arranjava sempre forma de fugir, correndo, selvagem, pelos bosques ou invadindo as pastagens vizinhas, pelo que March e Banford andavam sempre por fora, a correr atrás dela com mais cansaço do que sucesso. Assim, desesperadas, acabaram por vender a vitela. E precisamente antes de o outro animal estar para ter o seu primeiro vitelo, o velho morreu, pelo que as raparigas, receosas do parto iminente, o venderam em pânico, limitando doravante as suas atenções às galinhas e aos patos.
A despeito de um certo pesar, não deixou de ser um alívio não terem de cuidar de mais gado. A vida não servia apenas para ser passada a trabalhar. Ambas as raparigas concordavam neste ponto. As aves já eram preocupação
8
que chegasse. March instalara a sua bancada de carpinteiro ao fundo do telheiro. E aí trabalhava, fazendo armações de galinheiro, portas e outros elementos. As aves tinham sido colocadas no edifício maior, o qual servira outrora de celeiro e estábulo. Tinham uma casa magnífica, pelo que deveriam estar bastante satisfeitas. Na verdade, pareciam bastante bem. Mas as raparigas andavam aborrecidas com a tendência das aves para apanharem estranhas doenças, com a exasperante exactidão do seu modo de vida e com a sua recusa, recusa constante, obstinada, em porem ovos.
March fazia a maior parte do trabalho não doméstico. Quando estava por fora, nas suas andanças, vestida com umas grevas e uns calções, com o seu casaco cintado e um boné largo, quase que parecia um qualquer rapaz, ar agradável, porte indolente, bamboleante, devido aos seus ombros direitos e aos movimentos fáceis, confiantes, com alguns laivos até de indiferença ou ironia. Contudo, o seu rosto não era um rosto de homem. Quando curvada, o cabelo, negro e encaracolado, esvoaçava em madeixas à sua volta; quando direita, voltando a olhar em frente, havia nos seus olhos negros, olhos grandes, arregalados, um brilho estranho, misto de espanto,
timidez e sarcasmo ao mesmo tempo. E também a boca se mostrava crispada, como que por dor ou ironia. Havia nela qualquer coisa de estranho, de inexplicável. Podia quedar-se apoiada numa só anca, observando as aves que perambulavam pela lama fina, repugnante, do pátio em declive, chamando depois a sua galinha favorita, uma galinha branca que respondia pelo nome, vindo a saltitar até junto dela. Mas havia uma espécie de lampejo satírico nos grandes olhos negros de March quando fitava aqueles seres de três dedos que andavam de cá para lá sob o seu olhar atento, notando-se na voz o mesmo tom de ameaça irónica sempre que falava com Patty, a favorita, a qual bicava a bota de March numa amigável demonstração de amizade.
Mas, apesar de tudo o que March fazia por elas, as aves não eram uma criação florescente em Bailey Farm. Quando, de acordo com os regras, começou a dar-lhes comida quente pela manhã, reparou que esta fazia com que ficassem pesadas e sonolentas durante horas. Ela quedava-se, expectante, vendo-as encostadas aos pilares do barracão durante o seu lento processo digestivo. E sabia muito bem que elas deviam andar atarefadas a esgravatar e a debicar por aqui e por ali, isto para haver esperanças de virem a tornar-se de alguma valia. Assim, decidiu passar a dar-lhes a comida quente só à noite, deixando que a digerissem durante o sono. E assim fez. Só que isso não surtiu qualquer efeito.
Por outro lado, os tempos de guerra em que viviam eram bastante desfavoráveis à criação de aves. A comida era escassa e má. E quando o Daylight Saving Bill1 entrou em vigor, as aves recusaram-se obstinadamente a ir dormir à hora habitual, por volta das nove no tempo de Verão. E, na verdade, isso já era bastante tarde, pois até elas estarem recolhidas e a dormir era impossível ter-se paz. Agora, andavam animadamente às voltas por ali, limitando-se de quando em vez a relancear os olhos para o celeiro, isto até por volta das dez horas ou mais. Mas tanto Banford como March discordavam de que a vida fosse só para trabalhar. Gostariam de ter tempo para ler ou para andar de bicicleta à tardinha, ou talvez mesmo March desejasse poder pintar cisnes curvilíneos em porcelanas de fundo verde ou fazer maravilhosos guarda-fogos através de processos do domínio da alta técnica da marcenaria. Pois ela era uma criatura cheia de estranhas fantasias e tendências insatisfeitas. Mas as estúpidas das aves impediam-na de tudo isso.
E havia um mal bem pior que tudo o resto. Bailey Farm era uma pequena fazenda com um velho celeiro de madeira e uma casa baixa, de telhado de empena, apenas separada da orla do bosque por um pequeno campo. Ora, desde a guerra que rondava por ali um raposo, raposo que se revelara um autêntico demónio. Apoderava-se das galinhas mesmo debaixo do nariz de March e Banford. Banford bem podia sobressaltar-se e olhar atentamente através dos seus grandes óculos, os olhos muito arregalados, ao levantar-se a seus pés um novo alvoroço de grasnidos, cacarejos e adejar de asas. Demasiado tarde! Outra galinha branca que se fora, outra Leghorn perdida. Era, de facto, desencorajador.
Elas fizeram o que puderam para remediar o caso. Quando chegou a época da caça às raposas, ambas passaram a postar-se de sentinela com as suas espingardas, escolhendo as horas preferidas pelo rapinante. Mas isso de nada lhes valeu. O raposo era demasiado rápido para elas. E assim se passou mais um ano, depois outro, enquanto elas continuavam a viver dos prejuízos, como Banford dizia. Um Verão, alugaram a sua casa da quinta e foram viver para um vagão ferroviário existente numa das extremidades do campo, ali deixado para servir como uma espécie de barracão de arrecadações. Isto divertiu-as, além de as ajudar a pôr as finanças em ordem. Não obstante, as coisas continuavam feias.
Ainda que continuassem a ser as melhores amigas do mundo, já que Banford, apesar de nervosa e de delicada, era uma alma quente e generosa, e March, apesar de parecer tão estranha e ausente, sempre tão concentrada em si mesma, se revelava dotada de uma curiosa magnanimidade, começaram, contudo, a descobrir, naquela longa solidão, uma certa tendência para se irritarem uma com a outra, para se cansarem uma da outra. March tinha quatro quintos do trabalho a seu cargo, e, apesar de não se importar, nunca conseguia ter descanso, pelo que nos seus olhos havia, por vezes, um curioso relampejar. Então, se Banford, sentindo os nervos mais esgotados do que nunca, tivesse um ataque de desespero, March falar-lhe-ia com rispidez. De algum modo, pareciam estar a perder terreno, a perder a esperança à medida que os meses iam passando. Ali sozinhas nos campos junto ao bosque, com toda aquela vasta região estendendo-se, profunda e sombria, até às colinas arredondadas do White Horse, perdidas na distância, pareciam ter de viver demasiado desligadas de si mesmas. Não havia nada que as animasse. E não havia esperança.
O raposo punha-as realmente exasperadas. Assim que deixavam as aves sair, ao alvorecer dos dias de Verão, tinham de ir buscar as armas e de ficar de guarda; e tinham de voltar ao mesmo assim que o entardecer se avizinhava, retomando os seus postos de sentinela. E ele era tão manhoso, tão dissimulado! Rastejava ao longo da erva alta, tão difícil de ver como uma serpente. Parecia mesmo evitar deliberadamente as raparigas. Uma ou duas vezes, March conseguira vislumbrar-lhe a ponta branca da cauda, por vezes mesmo a sua sombra avermelhada por entre a erva alta, e disparara sobre ele. Mas o raposo não ligara nenhuma ao sucedido.
Uma tarde, March estava de costas contra o sol, já a pôr-se no horizonte, com a arma debaixo do braço e o cabelo oculto sob o boné. Estava meio vigilante, meio absorta, perdida nos seus pensamentos. Aliás, tal estado era em si uma constante. Tinha os olhos abertos e vigilantes, mas lá bem no fundo da mente não tomava consciência daquilo que estava a ver. Deixava-se sempre cair neste estranho estado de alheamento, a boca ligeiramente crispada. Era um problema saber se estava realmente ali, de consciência desperta para o presente, ou muito longe daqueles locais.
As árvores na orla do bosque, de um verde--acastanhado, surgiam como uma mancha escura ressaltando à luz crua do dia; estava-se em fins de Agosto. Ao fundo, os tons acobreados dos troncos e ramos nus dos pinheiros refulgiam no ar. Mais perto, a erva selvagem, com os seus longos caules acastanhados e rebrilhantes, estava toda banhada de claridade. As galinhas andavam por ali, enquanto os patos estavam ainda a nadar na lagoa por debaixo dos pinheiros. March olhava para tudo aquilo, via tudo aquilo sem realmente se dar conta de nada. Ouviu Banford a falar às galinhas, lá ao longe, mas foi como se não ouvisse. Em que pensava? Só Deus o sabe. Como sempre, a sua consciência estava longe, ficara para trás.
Acabara de baixar os olhos quando, de repente, viu o raposo. E este estava a olhar para ela. Tinha o focinho descaído e os olhos levantados, fitando o espaço à sua frente. Então, os seus olhares encontraram-se. E ele reconheceu-a. Ela estava fascinada, como que enfeitiçada, sabendo que ele a reconhecia. Ele olhou-a bem dentro dos olhos e ela sentiu-se desfalecer, como se a alma lhe fugisse. Ele reconhecia-a, por isso não tinha medo.
Mas ela esforçou-se por reagir, recobrando confusamente o domínio de si mesma, enquanto o via afastar-se, aos saltos por sobre alguns ramos caídos, saltos lentos, vagarosos, descarados. Então, virando a cabeça, ele voltou a mirá--la mais uma vez e desapareceu depois numa corrida pausada, suave. Ela ainda lhe viu a cauda erguida, ondulando leve como uma pena, assim como as manchas brancas dos quadris, cintilando na distância. E assim se foi, suavemente, tão suave como o vento.
Ela levou então a arma ao ombro, e mais uma vez franziu os lábios num esgar, sabendo que era um disparate tentar disparar. Assim, começou a segui-lo devagar, avançando na direcção que ele tomara, lenta, obstinadamente. Tinha esperanças de o encontrar. No mais íntimo de si mesma, estava decidida a encontrá-lo. Não pensou naquilo que faria quando o voltasse a ver, mas estava decidida a encontrá-lo. E assim andou muito tempo pela orla do bosque, absorta, perdida, os olhos negros muito vivos, muito abertos, um ligeiro rubor nas faces quentes. Ia sem pensar. Numa estranha apatia, o cérebro vazio, vagueou de cá para lá.
Por fim, deu-se conta de que Banford estava a chamá-la. Esforçando-se por despertar, tentou dar atenção e, voltando-se, soltou uma espécie de grito à laia de resposta. E retomou então o caminho da fazenda, avançando a grandes passadas. O sol estava já a pôr-se, num brilho rubro, e as galinhas começaram a recolher aos poleiros. Ela olhou-as, um bando de criaturas pretas e brancas aglomerando-se junto ao celeiro. Como que enfeitiçada, olhou--as sem as ver. Mas a sua inteligência automatizada preveniu-a da altura em que devia fechar a porta.
Foi então para dentro, preparando-se para cear, pois Banford já pusera a comida na mesa. Banford tagarelava com grande à vontade. March fingia ouvi-la na sua maneira distante, varonil, dando lacónicas respostas de quando em vez. Mas esteve o tempo todo como debaixo de um sortilégio. E assim que a refeição acabou, voltou a levantar-se para sair, fazendo-o sem sequer dizer porquê. Levou outra vez a arma e foi em busca do raposo. Pois ele levantara os olhos para ela, ele reconhecera-a, e isso parecia ter-lhe penetrado o cérebro, dominando-a. Não pensava muito nele: estava possuída por ele. Ela reviu os seus olhos escuros, astutos, impassíveis, fitando-a lá bem no fundo, desvendando-a, olhos de quem sabia conhecê-la. E sentiu que ele possuía um domínio invisível sobre o seu espírito. Relembrou o modo como ele baixara a queixada ao olhar para ela, reviu-lhe o focinho, o castanho dourado, o branco acinzentado. E voltou a vê-lo virar a cabeça, o olhar furtivo que lhe deitou, meio convidativo, meio desdenhoso, algo atrevido também. E por isso foi, os grandes olhos espantados e cintilantes, a espingarda debaixo do braço, andando de cá para lá na orla do bosque. Entretanto, caiu a noite, pelo que uma lua enorme, redonda, começou a erguer-se por detrás dos pinheiros. Então, Banford voltou a chamá-la.
Assim, ela voltou para casa. Estava silenciosa, atarefada. Examinou e limpou a arma, perdida em abstractos devaneios, a mente divagando à luz da lâmpada. E depois voltou a sair, ao luar, para ver se estava tudo em ordem. Mas quando viu as cristas negras dos pinheiros recortadas no céu sanguíneo, o coração acelerou-se-lhe, de novo batendo pelo raposo, sempre pelo raposo. E teve vontade de retomar a sua busca, de espingarda na mão.
Passaram alguns dias antes de ela mencionar o caso a Banford. Então, uma tarde, disse de súbito:
- Na noite de sábado passado, o raposo esteve mesmo ao pé de mim.
- Onde? - disse Banford, abrindo muito os olhos por detrás dos óculos.
- Quando estava ao pé da lagoa.
- Deste-lhe um tiro? - gritou Banford.
- Não, não dei.
- Porque não?
- Bem, suponho que fiquei demasiado surpreendida, só isso.
Era esta a velha maneira de falar que March sempre tivera, lenta e lacónica. Banford observou a amiga por alguns instantes.
- Mas viste-lo? - exclamou ela.
- Claro que sim! Ele estava a olhar para mim, impávido e sereno, como se não fosse nada com ele.
- Não me digas! - gritou Banford. - Que descaramento! Não têm medo nenhum de nós, Nellie, é o que te digo.
- Lá isso não - disse March.
- Só é pena que não lhe tenhas dado um tiro - acrescentou Banford.
- Sim, é pena! Desde então que tenho andado à procura dele. Mas não creio que volte a aproximar-se tanto da próxima vez.
- Sim, também acho - concordou Banford. E esforçou-se por esquecer o caso, apesar de se sentir mais indignada do que nunca com o atrevimento daqueles ratoneiros. March também não tinha consciência de andar a pensar no raposo. Mas sempre que caía em meditação, sempre que ficava meio absorta, meio consciente daquilo que tinha lugar sob os seus olhos, então era o raposo que, de algum modo, lhe dominava o inconsciente, apossando-se da sua mente errante, disponível. E foi assim durante semanas, durante meses. Não interessava que estivesse a trepar às macieiras, a apanhar as últimas ameixas, a cavar o fosso da lagoa dos patos, a limpar o celeiro, pois quando se endireitava, quando afastava da testa as madeixas de cabelo, voltando a franzir a boca daquela forma estranha, crispada, que lhe era habitual, dando-lhe um ar demasiado envelhecido para a idade, era mais do que certo voltar a sentir o espírito dominado pelo velho apelo do raposo, tão vivo e intenso como quando ele a olhara. Nessas ocasiões, era quase como se conseguisse sentir-lhe o cheiro. E isso acontecia-lhe sempre nos momentos mais inesperados, quer à noite quando estava para se ir deitar, quer quando deitava água no bule para fazer chá: lá estava o raposo, dominando-a com o seu fascínio, enfeitiçando-a, subjugando-a.
E assim se passaram alguns meses. Inconscientemente, ela continuava a ir à procura dele sempre que se encaminhava para os lados do bosque. Ele tornara-se-lhe num estigma, numa impressão obsessiva, num estado de espírito permanente, não contínuo mas recorrente, em constante afluxo. Não sabia aquilo que sentia ou pensava: pura e simplesmente, um tal estado invadia-a, dominava-a, tal e qual como quando ele a olhara.
Os meses foram passando, chegaram as noites escuras, pesadas, chegou Novembro, sombrio, ameaçador, época em que March andava de botas altas, os pés mergulhados na lama até ao tornozelo, tempo em que às quatro horas já era de noite, em que o dia nunca chegava propriamente a nascer. Ambas as raparigas temiam aquele tempo. Temiam a escuridão quase contínua que as rodeava, sozinhas na sua pequena quinta junto ao bosque, triste e desolada. Banford tinha medo, um medo físico, concreto. Tinha medo dos vagabundos, receava que alguém pudesse aparecer por ali a rondar. March não tinha tanto medo, era mais uma sensação de desconforto, de turbação. Sentia por todo o corpo como que um constrangimento, uma melancolia, e isso, sim, também a afectava fisicamente.
Usualmente, as duas raparigas tomavam chá na sala de estar. Ao anoitecer, March acendia a lareira, deitando-lhe a madeira que cortara e serrara durante o dia. Tinham então pela frente a longa noite, sombria, húmida, escura lá fora, solitária e um tanto opressiva portas adentro, algo lúgubre mesmo. March preferia não falar, mas Banford não podia estar calada. Bastava-lhe ouvir o vento silvando lá fora por sobre os pinheiros ou o simples gotejar da chuva para ficar com os nervos arrasados.
Uma noite, depois de tomarem chá e lavarem as chávenas na cozinha, retornaram à sala. March pôs os seus sapatos de trazer por casa e pegou no trabalho de croché, coisa que fazia de vez em quando com grande lentidão. Depois, quedou-se silenciosa. Banford ficou diante da lareira, olhando o fogo rubro, pois este, sendo de lenha, exigia uma constante atenção. Estava com receio de começar a ler demasiado cedo, já que os seus olhos não suportavam grandes esforços. Assim, sentou-se a olhar o fogo, ouvindo os sons perdidos na distância, o mugido do gado, o monótono soprar do vento, pesado e húmido, o estrépito do comboio da noite na pequena linha férrea não muito longe dali. Começava a estar como que fascinada pelo fulgor sanguíneo do fogo que ardia.
Subitamente, ambas as raparigas se sobressaltaram, erguendo os olhos. Tinham ouvido passos, passos distintos, nítidos, sem margem para dúvidas. Banford encolheu-se toda com medo. March levantou-se e pôs-se à escuta. Depois, dirigiu-se rapidamente para a porta que dava para a cozinha. Precisamente nessa altura, ouviram os passos aproximarem-se da porta das traseiras. Esperaram uns instantes. Então, a porta abriu-se lentamente. Banford deu um grande grito. Depois, uma voz de homem disse em tom suave:
- Viva!
March recuou e pegou na espingarda encostada a um canto.
- O que é que quer? - gritou em voz aguda. E o homem voltou a falar na sua voz simultaneamente vibrante e suave:
- Ora viva! Há algum problema?
- Olhe que eu disparo! - gritou March. - O que é que quer?
- Mas porquê, qual é o problema? - respondeu ele, no mesmo tom brando, interrogativo, algo assustado agora. E um jovem soldado, com a pesada mochila às costas, penetrou na luz baça da sala. E disse então: - Ora esta! Mas então quem é que vive aqui?
- Vivemos nós - disse March. - O que é
que quer?
- Oh! - exclamou o jovem soldado, uma leve nota de dúvida na sua voz arrastada, melodiosa. - Então William Grenfel já não mora aqui?
- Não, e você bem sabe que não.
- Acha que sei? Bem vê que não. Mas ele viveu aqui, pois era meu avô, e eu mesmo vivia aqui há cinco anos atrás. Afinal, que foi feito dele?
O homem - ou melhor, o jovem, pois não devia ter mais de vinte anos - adiantara-se agora um pouco mais estando já do lado de dentro da porta. March, já sob a influência daquela voz, estranhamente branda, quedou-se, fascinada, a olhar a olhar para ele. Tinha um rosto redondo, avermelhado, com cabelos louros um tanto compridos colados à testa pelo suor. Os olhos eram azuis, muito vivos. Nas faces, sobre a pele fresca e avermelhada, florescia uma fina barba loura, quase como que uma penugem, mais espessa, dando-lhe um ar vagamente resplandecente. Com a pesada mochila às costas, estava algo inclinado, a cabeça atirada para a frente. Tinha o bivaque pendente de uma das mãos. Com olhos vivos e penetrantes, fitava ora uma ora outra das raparigas, e especialmente March, que permanecia de pé, muito pálida, os grandes olhos arregalados, de casaco cintado e grevas, o cabelo atado atrás num grande bando encrespado por sobre a nuca. Continuava de arma na mão. Atrás dela, Banford, agarrada ao braço do sofá, estava toda encolhida, a cabeça meio voltada como quem se preparava para fugir.
- Pensei que o meu avô ainda avô ainda aqui vivesse. Será que já morreu?
- Estamos aqui há três anos - disse Banford, a qual parecia estar agora a recobrar a presença de espírito, talvez por se aperceber de algo de pueril naquela face redonda, de cabelos compridos e suados.
- Três anos! Não me digam! E não sabem quem vivia aqui antes de vocês?
- Só sei que era um velho que vivia sozinho.
- Ah! Então era ele! E o que é que lhe aconteceu?
- Morreu. Só sei que morreu.
- Ah! Então é isso, morreu!
O jovem fitava-as sem mudar de cor ou expressão. E se havia no seu rosto qualquer expressão, para além de um ar ligeiramente confuso, interrogativo, isso devia-se a uma forte curiosidade relativamente às duas raparigas. Mas a
curiosidade daquela jovem cabeça arredondada, apesar de viva e penetrante, era uma curiosidade impessoal, objectiva, fria.
Porém, para March ele era o raposo. Se tal se devia ao facto de ter a cabeça deitada para a frente, ao brilho da fina barba prateada em torno dos malares róseos ou aos olhos vivos e brilhantes, não seria possível dizê-lo; contudo, para ela o rapaz era o raposo e era-lhe impossível vê-lo de outro modo.
- Como é possível que não soubesse se o seu avô estava vivo ou morto? - perguntou Ban-ford, recuperando a sua habitual sagacidade.
- Ah, pois, aí é que está - respondeu o jovem, com um leve suspiro. - Sabe, é que eu alistei-me no Canadá e já não tinha notícias dele há três ou quatro anos... Fugi para lá a fim de me alistar.
- E acabou agora de chegar de França?
- Bem... Não propriamente, pois, na verdade, vim de Salónica.
Houve uma pausa, ninguém sabendo ao certo o que dizer.
- Então agora não tem para onde ir? - disse Banford, algo desajeitadamente.
- Oh, conheço algumas pessoas na aldeia. E, de qualquer forma, sempre posso ir para a Estalagem do Cisne.
- Veio de comboio, suponho. Não quer descansar um bocado?
- Bom, confesso que não me importava nada.
Ao desfazer-se da mochila, emitiu um estranho suspiro, quase que um queixume. Banford olhou para March.
- Ponha aí a arma - disse. - Nós vamos fazer um pouco de chá.
- Ah, sim! - concordou o jovem. - Já vimos demasiadas espingardas.
Sentou-se então no sofá com um certo ar de cansaço, o corpo todo inclinado para a frente.
March, recuperando a presença de espírito, dirigiu-se para a cozinha. Aí chegada, ouviu o jovem monologando na sua voz suave:
- Ora quem diria que havia de voltar e vir encontrar isto assim!
Não parecia nada triste, absolutamente nada; tão-só um tanto ou quanto surpreso e interessado ao mesmo tempo.
- E como tudo isto está diferente, hem? - continuou, relanceando o olhar pela sala.
- Acha que está diferente, é? - disse Banford.
- Se está!... Isso salta à vista...
Os seus olhos eram invulgarmente claros e brilhantes, ainda que tal brilho mais não fosse do que mero reflexo de uma saúde de ferro.
Na cozinha, March andava de cá para lá, preparando outra refeição. Eram cerca de sete horas da tarde. Durante todo o tempo em que esteve ocupada, nunca deixou de prestar atenção ao jovem sentado na saleta, não tanto a ouvir aquilo que este dizia como a sentir o fluir suave e brando da sua voz. Comprimiu os lábios, apertando-os mais e mais, a boca tão cerrada como se estivesse cosida, numa tentativa para manter o domínio de si mesma. Contudo, sem que o pudesse evitar, os seus grandes olhos dilatavam-se, brilhantes, pois perdera já o seu autocontrole. Rápida e descuidadamente, preparou a refeição, cortando grandes fatias de pão e barrando-as com margarina, pois manteiga era coisa que não tinham. Deu voltas à cabeça a pensar no que mais poderia pôr no tabuleiro, já que só tinha pão, margarina e geleia na despensa quase vazia. Incapaz de descobrir fosse o que fosse, dirigiu-se para a sala com o tabuleiro.
Ela não queria chamar as atenções. E, acima de tudo, não queria que ele a olhasse. Mas quando entrou, atarefada a pôr a mesa por detrás dele, ele endireitou-se, espreguiçando--se, e voltou-se para olhar por cima do ombro. Ela empalideceu, sentiu-se quase desfalecer.
O jovem observou-a, debruçada sobre a mesa, olhou-lhe as pernas finas e bem feitas, o casaco cintado flutuando-lhe sobre as coxas, o bandó de cabelos negros, e mais uma vez a sua curiosidade viva e sempre alerta se deixou prender por ela.
A lâmpada estava velada por um quebra-luz verde-escuro, de modo que a luz incidia de cima para baixo, deixando a parte superior da sala envolta na penumbra. O rosto dele movia-se, brilhante, à luz do candeeiro, enquanto March surgia como uma figura difusa, perdida na distância.
Ela virou-se, mas manteve a cabeça de lado, os olhos piscando, rápidos, sob as pestanas negras. Descerrando os lábios, disse então a Banford:
- Não queres servir o chá? Depois, regressou à cozinha.
- Não quer tomar o chá onde está? - disse Banford para o jovem. - A menos que prefira vir para a mesa - acrescentou.
- Bom, sinto-me aqui muito bem, confortavelmente instalado. Se não se importa, prefiro tomá-lo aqui mesmo - respondeu ele.
- Só temos pão e geleia - disse então ela. E pôs-lhe o prato à frente, pousando-o num escabelo. Sentia-se bastante feliz por ter alguém a quem servir, pois adorava companhia. E agora já não tinha medo dele, encarava-o quase como se fosse o seu irmão mais novo, tão criança ele lhe parecia.
- Nellie! - gritou. - Tens aqui a tua chávena.
March surgiu então à entrada da porta, aproximou-se, pegou na chávena e foi-se sentar a um canto, tão longe da luz quanto possível. Sendo muito susceptível quanto aos joelhos, e dado não ter qualquer saia com que os cobrisse, sofria pelo facto de ter de estar assim sentada com eles tão ousadamente em evidência. Assim, encostou-se toda para trás, encolhendo-se o mais que pôde, na tentativa de não ser vista. Mas o jovem, preguiçosamente estirado no sofá, fitava-a com uma tal insistência, os olhos firmes e penetrantes, que ela quase desejou poder desaparecer. No entanto, manteve a chávena direita enquanto bebia o chá, de lábios apertados e cabeça virada. O seu desejo de passar despercebida era tão forte que quase intrigou o rapaz, pois ele sentia que não conseguia vê-la com nitidez. Ela mais parecia uma sombra entre as sombras que a rodeavam. E os seus olhos acabavam sempre por voltar a ela, inquiridores, persistentes, atentos, com uma fixidez quase inconsciente.
Enquanto isso, na sua voz calma e suave, ele conversava com Banford, para quem a tagarelice era tudo no mundo, além de ser dotada de uma aguda curiosidade, qual pássaro saltitante catando aqui e ali. Por outro lado, ele comeu desalmadamente, rápido e voraz, pelo que March teve de ir cortar mais fatias de pão com margarina, por cujo preparo grosseiro Banford se desculpou.
- Oh, tens cada uma! - disse March, saindo repentinamente do seu mutismo. - Se não temos manteiga para lhes pôr, não vale a pena preocuparmo-nos com a elegância das fatias.
O jovem voltou a olhá-la e, subitamente, riu-se, com um riso rápido, sacudido, mostrando assim os dentes sob o nariz franzido.
- Lá isso é verdade - respondeu ele, na sua voz suave, insinuante.
Parece que era da Cornualha, nado e criado aí. Ao fazer doze anos, viera para Bailey Farm com o avô, com o qual nunca se dera muito bem. Assim, tivera de fugir para o Canadá, tendo passado a trabalhar longe, no Oeste. Agora voltara e ali estava, eis toda a sua história.
Mostrava-se muito curioso quanto às raparigas, pretendendo saber exactamente em que é que se ocupavam. As questões que lhes punha eram típicas de um jovem fazendeiro: argutas, práticas e um tanto trocistas. Parecia ter ficado muito divertido com a atitude delas face aos prejuízos, pois achava-as particularmente cómicas quanto ao caso das vitelas e das aves.
- Oh, bem vê - interrompeu March -, nós não concordamos em viver só para trabalhar.
- Ah, não? - respondeu. De novo o rosto se lhe iluminou num sorriso pronto e jovial. E o seu olhar, firme e insistente, voltou a cravar-se na mulher sentada ao canto, na obscuridade.
- Mas o que pensam fazer quando o vosso capital chegar ao fim? - indagou.
- Oh, isso não sei - retorquiu March, laconicamente. - Oferecermo-nos para trabalhar nos campos, suponho eu.
- Sim, mas não deve haver assim grande procura de mulheres para trabalhar no campo, agora que a guerra acabou - volveu o jovem.
- Oh, isso depois se vê. Ainda nos poderemos aguentar durante mais algum tempo - retorquiu March, num tom de indiferença algo plangente, meio triste, meio irónico.
- Faz aqui falta um homem - disse o jovem suavemente. Banford desatou a rir, soltando uma gargalhada.
- Veja lá o que diz - interrompeu ela. - Nós consideramo-nos muito capazes.
- Oh! - disse March, na sua voz arrastada e dolente. - Receio bem que não seja um simples caso de se ser ou não capaz. Quem se quiser dedicar à lavoura, terá de trabalhar de manhã à noite, quase que terá mesmo de se animalizar.
- Sim, estou a ver - respondeu o jovem. - E vocês não querem meter-se nisso de pés e mãos.
- Não, não queremos - disse March - e temos consciência disso.
- Queremos ficar com algum tempo para nós mesmas - acrescentou Banford.
O jovem recostou-se no sofá, tentando conter o riso, um riso silencioso mas que o dominava completamente. O calmo desdém das raparigas deixava-o profundamente divertido.
- Está bem - volveu ele - mas então porque começaram com isto?
- Oh! - retorquiu March. - Acontece que antes tínhamos uma melhor opinião da natureza das galinhas do que a que temos agora.
- Creio bem que de toda a Natureza - disse Banford. - E digo-lhes mais: nem me falem da Natureza!
Mais uma vez o rosto do jovem se contraiu num riso delicado.
- Vocês não têm lá grande opinião de galinhas e de gado, pois não? - disse então ele.
- Oh, não! - disse March. - E até bastante pequena.
O jovem, não conseguindo conter-se, soltou uma sonora gargalhada.
- Nem de galinhas, nem de vitelos, nem de cabras, nem do tempo - rematou Banford.
O jovem irrompeu então num riso rápido, convulsivo, explodindo em divertidas gargalhadas. As raparigas começaram também a rir. March, virando o rosto, franziu a boca num esgar, um riso contido sob os lábios cerrados.
- Bom - disse Banford -> mas não nos ralamos muito com isso, pois não, Nellie?
- Não - disse March -> não nos ralamos. O jovem sentia-se ah muito bem. Comera e bebera bastante, saciara-se até estar cheio. Banford começou a interrogá-lo. Chamava-se Henry Grenfel. Não, Harry não, chamavam--lhe sempre Henry. E continuou a responder de um modo simples, cortês, num tom simultaneamente solene e encantador. March, que não participava no diálogo, olhava-o lenta e demoradamente do seu refúgio do canto, con-templando-o ali sentado no sofá, de mãos espalmadas nos joelhos, o rosto batido pela luz do candeeiro enquanto, virado para Banford, lhe dava toda a sua atenção. Por fim, quase que se sentia calma, em paz. Ela identificara-o com o raposo e ali estava ele, presença física, viva, integral. Já não precisava de andar atrás dele, de ir à sua procura. Perdida na sombra do seu canto, sentiu-se tomada de uma paz quente, relaxante, quase como se o sono a invadisse, aceitando aquele encantamento que a habitava. Mas desejava continuar oculta, despercebida. Só se sentia totalmente em paz enquanto ele continuasse a ignorá-la, conversando com Banford. Oculta na sombra do seu canto, já não tinha razão para se sentir dividida, para tentar manter vivos dois planos de consciência. Podia finalmente mergulhar por inteiro no odor do raposo.
Pois o jovem, sentado junto à lareira dentro do seu uniforme, enchia a sala de um odor simultaneamente vago mas distinto, um tanto indefinível mas algo semelhante ao de um animal selvagem. March não mais tentou escapar-lhe. Mantinha-se calma e submissa no seu canto, tão quieta e passiva como um qualquer animal na sua toca.
Finalmente, a conversa começou a esmorecer. O jovem, tirando as mãos dos joelhos, endireitou-se um pouco e olhou em volta. E de novo tomou consciência daquela mulher silenciosa, quase invisível no seu canto.
- Bom - disse, algo contrariado -> suponho que é melhor ir andando ou quando chegar ao Cisne já estão todos deitados.
- De qualquer modo, receio que já estejam todos na cama - disse Banford. - Parece que apanharam essa gripe que anda para aí.
- Ah, sim?! - exclamou ele. E ficou alguns instantes pensativo. - Bem - continuou -, em algum lado hei-de arranjar onde ficar.
- Eu ia dizer para cá ficar, só que... - começou Banford.
Virando-se então, ele olhou-a, a cabeça atirada para a frente.
- Como? - perguntou.
- Quero eu dizer, as convenções, sei lá... - explicou ela. Parecia um bocado embaraçada.
- Não seria muito próprio, não é assim? - disse ele, num tom surpreso mas gentil.
- Não pela nossa parte, é claro - respondeu Banford.
- E não pela minha - retorquiu ele, com ingénua gravidade. - Ao fim e ao cabo, de certa forma esta continua a ser a minha casa.
Banford sorriu ao ouvi-lo.
- Trata-se antes do que a aldeia poderá dizer - observou.
Houve uma ligeira pausa.
- O que é que achas, Nellie? - perguntou Banford.
- Eu não me importo - respondeu March no seu tom habitual, nítido e claro. - E, de qualquer forma, a aldeia não me interessa para nada.
- Ah, não? - disse o jovem, em voz rápida mas suave. - Mas porque o fariam? Quer dizer, de que poderiam eles falar?
- Oh, isso! - volveu March, no seu tom lacónico, plangente. - Facilmente descobririam qualquer coisa. Mas não interessa aquilo que eles possam dizer. Nós sabemos cuidar de nós próprias.
- Sem qualquer dúvida - respondeu o jovem.
- Bom, então se quiser fique por aqui - disse Banford. - O quarto dos hóspedes está sempre pronto.
O rosto dele iluminou-se-lhe de prazer.
- Se têm a certeza de que não será um grande incómodo - observou ele naquele tom de suave cortesia que o caracterizava.
- Oh, não é incómodo nenhum - responderam as raparigas.
Sorrindo, satisfeito, ele olhava, ora para uma ora para outra.
- E mesmo muito agradável não ter de voltar a sair, não é verdade? - acrescentou, agradecido.
- Sim, suponho que sim - disse Banford.
March saiu para ir tratar do quarto. Banford estava tão satisfeita e solícita como se fosse o seu irmão mais novo quem tivesse voltado de França. Aquilo era tão gratificante para ela como se tivesse de cuidar dele, de lhe preparar o banho, de lhe tratar das coisas e tudo o resto. A sua generosidade e afectividade naturais tinham agora em que se aplicar. E o jovem estava deliciado com toda aquela fraternal atenção. Mas sentiu-se algo perturbado ao lembrar-se de que March, apesar de silenciosa, também estava a trabalhar para ele. Ela era tão curiosa, tão silenciosa e apagada. Quase que tinha a impressão de que ainda não a vira bem. E sentiu que até poderia não a reconhecer se se cruzassem na estrada.
Naquela noite, March teve um sonho perturbador, particularmente vivo e agitado. Sonhou que ouvia cantar lá fora, um cântico que não conseguia entender, um cântico que errava à volta da casa, vagueando pelos campos, perdendo-se na escuridão. Sentiu-se tão emocionada que teve vontade de chorar. Decidiu-se então a sair e, de repente, soube que era ele, soube que era o raposo quem assim cantava. Confundia-se com o trigo, de tão amarelo e brilhante. Ela então aproximou-se dele, mas o raposo fugiu, deixando de cantar. Contudo, parecia-lhe tão perto que quis tocá-lo. Estendeu a mão, mas, de súbito, ele arremeteu, mordendo-lhe o pulso, e no mesmo instante em que ela recuou, o raposo, virando-se para fugir, já a preparar o salto, bateu-lhe com a cauda na cara, dando a sensação de que esta estava em fogo, tão grande foi a dor que sentiu, como se a boca tivesse ficado ferida, queimada. E acordou com aquela horrível sensação de dor, quedando-se, trémula, como se se tivesse realmente queimado.
Contudo, na manhã seguinte, já só se lembrava dele como de uma vaga recordação. Levantando-se, pôs-se logo a tratar da casa para ir depois cuidar das aves. Banford fora até à aldeia de bicicleta na esperança de conseguir comprar alguma comida, pois era naturalmente hospitaleira. Mas, infelizmente, naquele ano de 1918 não havia muita comida à venda. Ainda em mangas de camisa, o jovem, saindo do quarto, foi até ao rés-do--chão. Era novo e sadio, mas como andava com a cabeça atirada para a frente, fazendo com que os ombros parecessem levantados e algo recurvos, dava a sensação de sofrer de uma ligeira curvatura da espinha. Mas devia ser apenas uma questão de hábito, um jeito que apanhara, pois era jovem e vigoroso. Enquanto as mulheres estavam a preparar o pequeno-almoço, lavou-se e saiu.
Andou por todo o lado, olhando e examinando tudo com a maior atenção. Comparou o actual estado da quinta com aquilo que ela antes fora, pelo menos até onde conseguia lembrar-se, fazendo depois um cálculo mental do efeito das mudanças. Foi ver as galinhas e os patos, avaliando das condições em que estavam; observou o voo dos pombos-bravos, extremamente numerosos, que passavam no céu por cima de si; viu a macieira e as maçãs que, por demasiados altas, March não conseguira apanhar; reparou numa bomba de sucção que elas tinham tomado de empréstimo, presumivelmente para esvaziarem a grande cisterna de água doce situada junto ao lado norte da casa.
- Tudo isto está velho e gasto, mas não deixa de ser curioso - disse às raparigas ao sentar-se para tomar o pequeno-almoço.
Sempre que reflectia em qualquer coisa, havia nos seus olhos um brilho simultaneamente inteligente e pueril. Não falou muito, mas comeu até fartar. March manteve o rosto de lado, os olhos desviados o tempo todo. E também ela, naquele princípio de manhã, não tinha clara consciência da presença dele, ainda que algo no brilho do caqui que ele envergava lhe lembrasse o cintilante esplendor do raposo do seu sonho.
Durante o dia, as raparigas andaram por aqui e por ali, entregues às suas tarefas. Quanto a ele, de manhã dedicou-se à caça, tendo morto a tiro um coelho e um pato--bravo que voava alto, para os lados do bosque. Isto representava um apreciável contributo, dado a despensa estar mais que vazia. Deste modo, as raparigas acharam que já pagara a despesa feita. Contudo, ele não disse nada quanto a ir-se embora. De tarde, foi até à aldeia, tendo voltado à hora do chá. Tinha no rosto arredondado o mesmo olhar vivo, penetrante, alerta. Pendurou o chapéu no cabide num pequeno movimento bamboleante. A avaliar pelo seu ar pensativo, tinha qualquer coisa em mente.
- Bom - disse às raparigas enquanto se sentava à mesa. - O que é que eu vou fazer?
- O que quer dizer com isso? - perguntou Banford.
- Onde é que eu vou arranjar na aldeia um lugar para ficar? - esclareceu ele.
- Eu cá não sei - disse Banford. - Onde é que pensa ficar?
- Bem... - respondeu ele, hesitante. - No Cisne estão todos com a tal gripe e no Grade e Arado têm lá os soldados que andam na recolha de feno para o exército. Além disso, na aldeia, já há dez homens e um cabo aboletados em casas particulares, ao que me disseram. Não sei lá muito bem onde é que irei achar uma cama.
E deixou o assunto à consideração das raparigas. Não parecia muito preocupado, estava até bastante calmo. March, sentada com os cotovelos pousados na mesa e o queixo entre as mãos, olhava-o meio absorta, quase sem se dar conta. De súbito, ele ergueu os seus olhos azul-escuros, fixando-os abstractamente nos de March. Ambos estremeceram, surpreendidos. E também ele se retraiu, esboçando um ligeiro recuo. March sentiu o mesmo clarão furtivo, sarcástico, saltar daqueles olhos brilhantes quando ele desviou o rosto, o mesmo fulgor astuto, conhecedor, dos olhos escuros do raposo. E, tal como acontecera com o raposo, sentiu que aquele olhar lhe trespassava a alma, penetrando-a de lado a lado. Como presa de viva dor ou em meio a um sono agitado, a boca crispou-se-lhe, os lábios contraíram-se.
- Bom, não sei... - dizia Banford. Parecia algo relutante, como se receasse que estivessem a querer enganá-la, a querer impor-lhe qualquer coisa. Olhou então para March. Mas, dada a sua fraca visão, sempre algo turvada, mais não viu no rosto da amiga do que aquele seu ar meio abstracto de sempre.
- Porque é que não dizes nada, Nellie? - perguntou.
Mas March mantinha-se silenciosa, olhos arregalados e errantes, enquanto o jovem, como que fascinado, a observava de olhos fixos.
- Vamos, diz qualquer coisa - insistiu Banford. E March virou então ligeiramente a cabeça, como que a tomar enfim consciência das coisas ou, pelo menos, a tentar fazê-lo.
- Mas que esperas tu que eu diga? - perguntou em tom automático.
- Dá a tua opinião - disse Banford.
- Tanto se me dá, é-me indiferente - respondeu March.
E novo silêncio se instalou. Qual língua de fogo, uma luz pareceu brilhar nos olhos do rapaz, penetrante como uma agulha.
- Pois a mim também - disse então Banford. - Se quiser, pode ficar por cá.
Acto contínuo, quase que involuntariamente, um sorriso perpassou pelo rosto do rapaz, uma súbita chama de astúcia a iluminá-lo. Baixando rapidamente a cabeça, escondeu-a então nas mãos e assim ficou, cabeça baixa, rosto oculto.
- Como disse, se quiser pode cá ficar. Faça como entender, Henry - rematou Banford.
Mas ele continuava sem responder, insistindo em permanecer de cabeça baixa. Por fim, ao erguer o rosto, havia neste um estranho brilho, como se naquele momento todo ele exultasse, enquanto observava March com olhos estranhamente claros, transparentes. Esta desviou o rosto, um ricto de dor na boca crispada, quase como se ferida, a consciência toldada, presa de confusa turvação.
Banford começou a sentir-se um pouco intrigada. Viu os olhos do jovem fitos em March, olhos firmes, decididos, quase que transparentes, o rosto iluminado por um sorriso imperceptível, mais adivinhado do que real. Ela não percebia como é que ele podia estar a sorrir, pois as suas feições afectavam uma imobilidade de estátua. Tal parecia provir do brilho, quase que do fulgor que dimanava da fina barba daquelas faces. Então, ele olhou finalmente para Banford, mudando sensivelmente de expressão.
- Não tenho dúvidas - disse, na sua voz suave, cortês - de que você é a bondade em pessoa. Mas é demasiada generosidade da sua parte. Bem sei que isso seria um grande incómodo para si.
- Corta um bocado de pão, Nellie - disse Banford, algo constrangida. E acrescentou: - Não é incómodo nenhum, pode ficar à vontade. É como se tivesse aqui o meu irmão a passar alguns dias. Ele é quase da sua idade.
- É demasiada bondade da sua parte - repetiu o rapaz. - Terei todo o gosto em ficar se estiver certa de que não incomodo.
- Não, não incomoda nada. Digo-lhe mais: é mesmo um prazer ter aqui alguém para nos fazer companhia - respondeu a bondosa Banford.
- E quanto a Miss March? - perguntou ele com toda a suavidade, olhando para ela. - Oh, por mim não há problema, está tudo bem - respondeu March num tom vago, abstracto.
O rosto radiante, ele quase esfregou as mãos de satisfação.
- Bom - disse -, nesse caso, terei todo o gosto em ficar, isto se me permitirem que pague a minha despesa e as ajude com o meu trabalho.
- Não precisa de pagar, isto aqui não é pensão - atalhou Banford.
Passado um dia ou dois, o jovem continuava na quinta. Banford estava encantada com ele. Sempre que falava, fazia-o de uma forma suave e cortês, nunca querendo monopolizar a conversa, preferindo antes ouvir aquilo que ela tinha para dizer e rindo-se depois com o seu riso rápido, sacudido, um tanto trocista por vezes. E ajudava-as de boa vontade no trabalho, pelo menos desde que este não fosse muito. Gostava mais de andar por fora, sozinho com a sua espingarda, sempre atento e observador, olhando para tudo com olhos de ver. Pois lia-se-lhe nos olhos ávidos uma insaciável curiosidade por tudo e todos, donde sentir-se mais livre quando o deixavam só, sempre meio escondido em observação, alerta e vigilante.
E era March quem mais gostava de observar, pois o seu estranho carácter intrigava-o e atraía-o ao mesmo tempo. Por outro lado, sentia-se seduzido pela sua silhueta esguia, pelo seu porte grácil, algo masculino. Sempre que a olhava, os seus olhos negros atingiam-no no mais íntimo de si mesmo, faziam-no vibrar de júbilo, despertavam em si uma curiosa excitação, excitação que receava deixar transparecer, tão viva e secreta ela era. E depois aquela sua estranha forma de falar, inteligente e arguta, dava-lhe uma franca vontade de rir. Naquele dia, sentiu que devia ir mais longe, que havia algo a impeli-lo irresistivelmente para ela. Contudo, afastando-a do pensamento, recalcou tais impulsos e saiu porta fora, dirigindo-se para a orla do bosque de espingarda na mão.
Estava já a anoitecer quando se decidiu a voltar para casa, tendo entretanto começado a cair uma daquelas chuvas finas de fins de Novembro. Olhando em frente, viu a luz da lareira bruxuleando por detrás dos vidros da janela da sala, tremular aéreo em meio ao pequeno aglomerado dos edifícios escuros.
E pensou para consigo que não seria nada mau ser dono daquele lugar. E então, insinuando-se maliciosamente, surgiu-lhe a ideia: e porque não casar com March? Totalmente dominado por aquela ideia, quedou-se algum tempo imóvel no meio do campo, o coelho morto pendendo-lhe da mão. Num fervilhar expectante, a sua mente trabalhava, reflectindo, ponderando, calculando, até que finalmente ele sorriu, uma curiosa expressão de aquiescência estampada no rosto. Pois porque não? Sim, realmente porque não? Até era uma boa ideia. Que importava que isso pudesse ser um tanto ridículo? Sim, que importância tinha isso? E que importava que ela fosse mais velha do que ele? Nada, absolutamente nada. E ao pensar nos seus olhos negros, olhos assustados, vulneráveis, sorriu maliciosamente para consigo. Na verdade, ele é que era mais velho do que ela. Dominava-a, era o seu senhor.
Mas até mesmo a seus olhos lhe custava a admitir tais intenções, até mesmo para si estas continuavam secretas, ocultas algures num qualquer surdo recesso da mente. Pois, de momento, ainda era tudo muito incerto. Teria de aguardar o desenrolar dos acontecimentos, ver qual a sua evolução. Sim, tinha de ser paciente. Se não fosse cuidadoso, arriscava-se a que ela, pura e simplesmente, escarnecesse de uma tal hipótese. Pois ele sabia, astuto e sagaz como era, que se fosse ter com ela para lhe dizer assim de chofre: "Miss March, amo-a e quero casar consigo", a resposta dela seria inevitavelmente: "Desapareça. Não quero saber dessas palermices." Seria certamente essa a sua atitude para com os homens e as suas "palermices". Se não fosse cuidadoso, ela dominá-lo-ia, cobri-lo-ia de ridículo no seu tom selvagem, sarcástico, pô-lo-ia fora da quinta, expulsá-lo-ia para sempre do seu próprio espírito. Tinha de ir devagar, suavemente. Teria de a apanhar como quem apanha um veado ou uma galinhola quando vai à caça. De nada serve entrar floresta adentro para dizer ao veado: "Por favor, põe-te na mira da minha espingarda." Não, trata-se antes de uma luta surda, paciente, subtil. Quando se quer de facto ir apanhar um veado, temos de começar por nos concentrarmos, por nos fecharmos sobre nós próprios, dirigindo-nos depois silenciosamente para as montanhas, antes mesmo do amanhecer. Quando se vai caçar, o importante não é tanto aquilo que se faz, é mais aquilo que se sente. Há que ser subtil, astuto, há que estar sempre pronto, ser absolutamente determinado, resoluto no avançar, fatal como o destino. Pois tudo se passa como se mais não houvesse do que um simples destino a cumprir. O nosso próprio destino comanda e determina o destino do veado que se anda a caçar. Em primeiro lugar, antes mesmo de vermos a caça, trava-se uma estranha batalha, uma batalha mesmérica, de magnetismo contra magnetismo. A nossa própria alma, como um caçador, partiu já em busca da alma do veado, e isto mesmo antes de vermos qualquer veado. E a alma do veado luta para lhe escapar. E assim que tudo se passa, antes mesmo de o veado ter captado o nosso cheiro. Trava-se então uma batalha de vontades, subtil, profunda, uma batalha que tem lugar no mundo do invisível. Batalha que só acaba quando a nossa bala atinge o alvo. E quando se chega realmente ao verdadeiro clímax, quando a caça surge por fim na nossa linha de tiro, não vamos então apontar como quando praticamos tiro ao alvo contra uma garrafa. Pois nessa altura é a nossa própria vontade que realmente conduz a bala até ao coração da caça. O voo da bala, directa ao alvo, não passa de uma débil projecção do nosso próprio destino no destino do veado. Tudo acontece enquanto expressão de um supremo desejo, de um supremo acto da vontade, não enquanto demonstração de uma simples habilidade, mera astúcia ou esperteza.
No fundo, ele era um caçador, não um fazendeiro, não um soldado com espírito de regimento. E era como jovem caçador que desejava apanhar March, transformá-la na sua presa, fazer dela sua mulher. Assim, fechou-se subtilmente sobre si mesmo, numa tão grande concentração interior que quase parecia desaparecer numa espécie de invisibilidade. Não estava muito certo de como deveria avançar. Além de que March era mais desconfiada do que uma lebre. Deste modo, decidiu continuar na aparência como aquele jovem desconhecido, estranho e simpático, em estada de quinze dias naquela casa. Naquele dia, passara a tarde a cortar lenha para a lareira. Escurecera muito cedo. Além disso, pairava no ar uma névoa fria e húmida. Quase que já estava demasiado escuro para se ver fosse o que fosse. Um monte de pequenos toros já serrados jazia junto a uma banqueta. March chegou para levar alguns para dentro de casa e outros para o telheiro, enquanto ele se preparava para serrar o último toro. Estava a trabalhar em mangas de camisa, não tendo notado a chegada dela. Ela aproximou-se com uma certa relutância, quase como que a medo. E então ele viu-a curvada sobre os toros recém-cortados, de arestas vivas, aguçadas, e parou de serrar. Como um relâmpago, sentiu um fogo subir-lhe pelas pernas, abrasando-lhe os nervos.
- March? - inquiriu, na sua voz jovem e calma.
Ela olhou por cima dos toros que estava a empilhar.
- Sim? - respondeu.
Ele tentou vê-la através da escuridão, mas não conseguia distingui-la lá muito bem.
A sua imagem chegava-lhe algo esbatida, de contornos vagos, indistintos.
- Quero perguntar-lhe uma coisa - disse então.
- Ah, sim? E o que é? - volveu ela. E havia já na sua voz um certo medo. Mas continuava perfeitamente senhora de si.
- Ora, diga-me - começou ele em tom insinuante, numa voz suave, subtil, penetran-do-lhe os nervos, arrepiando-a. - Que pensa que seja?
Ela endireitou-se, de mãos nas ancas, e ficou a olhar para ele sem responder, como que petrificada. E ele voltou a sentir-se tomado de uma súbita sensação de poder.
- Pois bem - disse, havendo na sua voz uma tal suavidade que mais parecia um leve toque, um simples aflorar, quase como quando um gato estende a pata numa imperceptível carícia, surgindo mais como um sentimento do que como um som. - Pois bem, queria pedir-lhe para casar comigo.
Mais do que ouvir, March sentiu dentro de si o eco daquela frase. Mas era em vão que tentava desviar o rosto. Uma profunda lassidão pareceu então invadi-la. Ficou de pé, silenciosa, a cabeça levemente inclinada para um lado. Ele parecia estar a curvar-se para ela, um sorriso invisível no rosto atento. E ela teve a sensação de que todo ele cintilava, rápidas faíscas dardejando do seu corpo imóvel.
Em tom rápido e abrupto, respondeu então:
- Não me venha para cá com essas palermices.
O rapaz sobressaltou-se, um espasmo nos nervos tensos, contraídos. Soube que falhara o golpe. Quedou-se então uns instantes calado tentando ordenar as ideias. Depois, pondo na sua voz toda aquela estranha suavidade tão peculiar, disse como que num afago, numa quase imperceptível carícia:
- Mas não é palermice nenhuma. Não, não é palermice. Estou a falar a sério, muito a sério. Porque é que não acredita em mim?
Parecia ferido, quase que ofendido. E a sua voz exercia um curioso poder sobre ela, dando-lhe uma sensação de liberdade, de descontracção. Algures dentro de si, ela tentava lutar, debatendo-se em busca das forças que lhe fugiam. Por um momento, sentiu-se perdida, irremediavelmente perdida. Como que moribunda, as palavras tremiam-lhe na boca, teimavam em não sair. De repente, a fala voltou-lhe.
- Você não sabe o que está a dizer! - exclamou, um leve e passageiro tom de escárnio palpitando-lhe na voz. - Mas que disparate! Tenho idade para ser sua mãe.
- Sim, sei muito bem o que estou a dizer. Sei, sim, sei muito bem o que estou a dizer - insistiu ele com enorme suavidade, como se quisesse que ela sentisse no sangue toda a força da sua voz. - Tenho plena consciência daquilo que estou a dizer. E você não tem idade para ser minha mãe, sabe muito bem que isso não é verdade. E mesmo que assim fosse, que importava isso? Pode muito bem casar comigo tenha lá a idade que tiver. Que me importa a idade? E que lhe importa isso a si? A idade não interessa!
Sentiu-se tomada de uma súbita tontura, quase que a desfalecer, quando ele acabou de falar. Ele falava rapidamente, naquela maneira rápida de falar que tinham na Cornualha, e a sua voz parecia ressoar algures dentro dela, lá onde se sentia totalmente impotente contra isso. "A idade não interessa!" Aquela insistência, como ele a dissera, suave e ardente ao mesmo tempo, dava-lhe uma estranha sensação e, por instantes, ali perdida na escuridão, sentiu-se quase a cambalear. E não foi capaz de responder.
Ele exultou, os membros ardendo-lhe, frementes, tomados de incontível júbilo. Sentiu que ganhara a partida.
- Bem vê que quero casar consigo. Porque é que não havia de o querer? - continuou ele, no seu jeito rápido e suave. E ficou à espera de uma resposta. Em meio à escuridão, ela parecia-lhe quase fosforescente. De pálpebras cerradas, o rosto meio de lado, tinha um ar ausente, abstracto. Parecia dominada pelo seu poder, submissa, quase que vencida. Mas ele aguardou, prudente e alerta. Ainda não ousava tocar-lhe.
- Diga lá que sim - volveu ele. - Diga que casa comigo. Vá, diga!... - Falava agora num tom de suave insistência.
- O quê? - perguntou então ela, numa voz frouxa, distante, como de alguém presa de viva dor. A voz do rapaz tornara-se agora incrivelmente meiga, cada vez mais suave. Ele estava agora muito perto dela.
- Diga que sim.
- Não, não posso! - gemeu ela, desamparada, mal articulando as palavras, quase que num estado de semi-inconsciência, como alguém nas vascas da agonia. - Como seria isso possível?
- Claro que pode - respondeu ele com meiguice, pousando-lhe suavemente a mão no ombro enquanto ela permanecia de pé, atormentada e confusa, o rosto de lado, a cabeça descaída. - Pode, claro que pode. Porque diz que não pode? Pode, bem sabe que pode. - E, com extrema ternura, curvou-se para ela, tocando-lhe no pescoço com o queixo, pousando-lhe os lábios, a boca.
- Não, não faça isso! - gritou ela, um grito frouxo, incontrolado, quase que histérico, escapando-se para depois o encarar. - O que quer dizer com isso? - acrescentou ainda. Mas não tinha forças para continuar a falar. Era como se já estivesse morta.
- Exactamente aquilo que disse - insistiu ele, com cruel suavidade. - Quero que case comigo. E isso mesmo, quero que case comigo. Agora já entendeu, não é assim? Já entendeu? Já? Diga que sim...
- O quê? - perguntou ela.
- Se já entendeu?... - replicou ele.
- Sim - respondeu ela. - Sei aquilo que disse.
- E sabe que falo a sério, não sabe?
- Sei aquilo que disse, nada mais.
- E acredita em mim? - perguntou ele então.
Ela quedou-se algum tempo silenciosa. Depois, de rosto tenso, os lábios crisparam-se--lhe, a boca contraiu-se.
- Não sei em que deva acreditar - disse.
- Estão aí fora? - perguntou então uma voz. Era Banford, chamando de dentro de casa.
- Sim, íamos agora levar a lenha - respondeu ele.
- Pensei que se tivessem perdido - disse Banford, num tom algo desconsolado. - Despachem-se, fazem favor, para virem tomar o chá. A chaleira já está a ferver.
Curvando-se de imediato para pegar numa braçada de lenha, ele levou-a então para a cozinha, onde costumavam empilhá-la a um canto. March também ajudou, enchendo os braços de cavacos e transportando-os de encontro ao peito como se carregasse consigo uma criança pesada e gorda. A noite caíra entretanto, fria e húmida.
Depois de levarem toda a lenha para dentro, os dois limparam ruidosamente as botas na grade exterior, esfregando-as depois no tapete. March fechou então a porta e tirou o seu velho chapéu de feltro, o seu chapéu de fazendeira. O cabelo negro, encrespado e espesso, tombava-lhe, solto, sobre os ombros, contrastando com as faces pálidas e cansadas. Com um ar ausente, atirou distraidamente o cabelo para trás e foi lavar as mãos. Banford entrou apressadamente na cozinha mal iluminada a fim de ir buscar os scones1 que deixara no forno a aquecer.
- Mas que diabo estiveram vocês a fazer até agora? - perguntou ela em tom azedo. - Já pensava que nunca mais vinham. E há que tempos que você parou de serrar. Que estiveram vocês a fazer lá fora?
- Bem - disse Henry -, estivemos a tapar aquele buraco no celeiro para os ratos não entrarem.
- Ora essa! Mas eu vi-os no telheiro. Você estava de pé, em mangas de camisa - objectou Banford.
- Sim, nessa altura eu tinha ido arrumar a serra.
Tomaram então o chá. March estava muito calada, um ar absorto no rosto pálido e cansado. O jovem, sempre de rosto corado e ar reservado, como que a vigiar-se a si mesmo, estava a tomar o chá em mangas de camisa, tão à vontade como se estivesse em sua casa. Debruçando-se sobre o prato, comia com toda a sem-cerimónia.
- Não tem frio? - perguntou Banford em tom maldoso. - Assim em mangas de camisa...
Ele olhou para ela, ainda com o queixo junto ao prato, observando-a com olhos claros, transparentes. Fitava-a com o mesmo ar imperturbável de sempre.
- Não, não tenho frio - respondeu ele com a sua habitual cortesia, no seu tom suave e modulado. - Está muito mais quente aqui do que lá fora, sabe...
- Espero bem que sim - retrucou Banford, sentindo que ele a estava a provocar. Aquela estranha e suave autoconfiança que ele tinha, aquele seu olhar brilhante e profundo, contendiam-lhe com os nervos naquela noite.
- Mas talvez - disse ele, suave e cortês - não goste de que eu venha tomar chá sem casaco. Não me lembrei disso.
- Oh, não, não me importo - disse Banford, embora de facto se importasse.
- Não acha que será melhor ir buscá-lo? - perguntou ele.
Os olhos escuros de March viraram-se lentamente para ele.
- Não, não se incomode - disse, num estranho tom nasalado. - Se se sente bem como está, pois deixe-se estar. - Falara de uma forma friamente autoritária.
- Sim - respondeu ele -, sinto-me bem, isto se não estou a ser descortês...
- Bom, isso é normalmente considerado como sinal de má educação - disse Banford. - Mas nós não nos importamos.
- Deixa-te disso! "Considerado sinal de má educação"... - exclamou March, algo intempestiva. - Quem é que considera isso sinal de má educação?
- Ora essa, Nellie! Consideras tu! E até agora sempre o disseste em relação a toda a gente!... - disse Banford, empertigando-se um pouco por detrás dos óculos e sentindo a comida atravessar-se-lhe na garganta.
Mas March voltara a ter aquele seu ar vago e ausente, mastigando a comida como se não tivesse consciência de o estar a fazer. E o jovem observava as duas com olhos vivos e atentos.
Banford sentia-se ofendida. Pois, apesar de toda aquela suavidade e cortesia com que ele sempre falava, o jovem parecia-lhe ser mas era um grande descarado. E não gostava de olhar para ele. Não gostava de encarar aqueles olhos claros e vivos, aquele estranho fulgor que sempre tinha no rosto, aquela barba fina e delicada que lhe ornava as faces, aquela pele estupidamente vermelhusca que, contudo, parecia sempre incendiada por um estranho calor de vida. Quase que se sentia doente ao olhar para ele. Pois a qualidade da sua presença física era demasiado penetrante, demasiado ardente.
Depois do chá, o serão era sempre muito calmo. O jovem raramente saía, raramente ia até à aldeia. Por via de regra, costumava ficar a ler, pois era um grande leitor nas horas vagas. Isto é, quando começava, deixava-se absorver totalmente pela leitura. Mas nunca tinha muita pressa de começar. Muitas vezes, saía para dar longos e solitários passeios pelos campos, seguindo rente às sebes, envolto no negrume da noite. Demonstrava um singular instinto pela noite, vagueando, confiante, enquanto escutava os sons selvagens que lhe chegavam.
Contudo, naquela noite, tirou um livro do capitão Mayne Reid1 da estante de Banford e, sentando-se de joelhos escarranchados, mergulhou na leitura da história. O seu cabelo, de um louro-acastanhado, era um tanto comprido, assentando-lhe na cabeça como um grosso boné, apartado ao lado. Estava ainda em mangas de camisa e, debruçado para a frente sob a luz do candeeiro, com as pernas abertas e o livro na mão, todo o seu ser absorvido no esforço assaz estrénuo da leitura, dava à sala de estar de Banford um ar de quarto de arrumações. E isso irritava-a, ofendia-a. Pois no chão da sala tinha um tapete turco de cor vermelha e franjas negras, a lareira possuía azulejos verdes, de muito bom gosto, o piano estava aberto com a última música de dança encostada ao tampo - ela tocava muito bem, aliás - e nas paredes viam-se cisnes e nenúfares, pintados à mão por March. Além disso, com as achas a arderem trémula e suavemente, o fogo crepitando na grade da lareira, com os espessos cortinados corridos e as portas fechadas, em contraste com o vento que uivava lá fora, fazendo estremecer os pinheiros, a sala era confortável, elegante e bonita. E ela detestava a presença daquele jovem rude, alto e de grandes pernas, as joelheiras de caqui muito espetadas sob o tecido repuxado, para ali sentado com os punhos da sua camisa de soldado abotoados à volta dos grossos pulsos vermelhaços. De tempos a tempos, ele virava uma página, lançando de ora em vez um rápido olhar ao fogo que ardia e ajeitando as achas. Depois, voltava a mergulhar na solitária e absorvente tarefa da leitura.
March, na ponta mais afastada da mesa, fazia o seu croché de uma forma rápida, sacudida.
Tinha a boca estranhamente contraída, como quando sonhara que a cauda do raposo lhe queimava os lábios, o seu belo cabelo negro encaracolado caindo-lhe em madeixas ondulantes. Mas toda ela parecia perdida numa aura de devaneio, como se na verdade estivesse muito longe dali. Numa espécie de sonho acordado, parecia-lhe ouvir o regougar do raposo no vento que assobiava à volta da casa, um cântico selvagem e doce como uma louca obsessão. Com as suas mãos rosadas e bem feitas, desfiava vagarosamente o algodão branco num croché lento, desajeitado.
Banford, sentada na sua cadeira baixa, tentava igualmente ler. Mas sentia-se algo nervosa no meio daqueles dois. Não parava de se mexer e de olhar em volta, ouvindo o sibilar do vento enquanto espreitava furtivamente ora um ora outro dos seus companheiros. March, de costas direitas contra o espaldar da cadeira, as pernas cruzadas sob as calças justas, entregue ao seu croché lento, laborioso, também a deixava preocupada.
- Oh, meu Deus! - exclamou Banford. - Os meus olhos não estão nada bons esta noite. - E esfregava-os com os dedos.
O jovem levantou a cabeça, fitando-a com olhos claros e vivos, mas nada disse.
- Ardem-te, é, Bill? - perguntou March distraidamente.
O jovem recomeçou então a ler e Banford viu-se obrigada a voltar ao seu livro. Mas não conseguia estar quieta. Ao fim de algum tempo, olhou para March, um estranho sorriso maldoso desenhando-se-lhe no rosto magro.
-Um penny1 pelos teus pensamentos, Nellie - disse, de súbito.
March olhou em volta com um ar espantado, os olhos negros muito abertos, tornando--se então muito pálida, como se tomada de pânico. Tinha estado a ouvir o cântico do raposo, elevando-se nos ares com uma tão profunda, inacreditável ternura, enquanto ele errava em torno da casa.
- O quê? - perguntou num tom abstracto.
- Um penny pelos teus pensamentos - repetiu Banford, sarcástica. - Ou até mesmo dois, se forem assim tão profundos.
O jovem, do seu canto sob o candeeiro, observava-as com olhos vivos e brilhantes.
- Ora - volveu March, na sua voz ausente -, porque hás-de desperdiçar assim o teu dinheiro?
- Achei que talvez fosse bem gasto - replicou Banford.
- Não estava a pensar em nada de especial, apenas no soprar do vento à volta da casa - disse então March.
- Oh, céus! - retorquiu Banford. - Até eu podia ter tido um pensamento tão original como esse. Desta vez, receio bem ter desperdiçado o meu dinheiro.
- Bom, não precisas de pagar - disse March.
De repente, o jovem pôs-se a rir. Ambas as mulheres olharam então para ele, March com um certo ar de surpresa, corr� se só então se desse conta da sua presença.
- Mas então costumam sempre pagar em tais ocasiões? - perguntou ele.
- Oh, claro - disse Banford. - Pagamos sempre. Houve alturas em que tive de pagar à Nellie um xelim por semana, isto no Inverno, pois no Verão fica muito mais barato.
- O quê? Mas então pagam pelos pensamentos uma da outra? - disse o jovem, rindo.
- Sim, quando já não há absolutamente mais nada com que nos entretermos.
Ele ria por acessos, de uma forma brusca, sacudida, franzindo o nariz como um cachorrinho, um vivo prazer no riso dos olhos brilhantes.
- É a primeira vez que oUço falar em tal coisa - disse então.
- Acho que já a teria ouvido muitas vezes se tivesse de passar um Inverno em Bailey Farm - retrucou Banford err tom lastimoso.
- Mas então aborrecem-se assim tanto? - perguntou ele.
- Mais do que isso! - exclamou Banford.
- Oh! - disse ele com ar grave. - Mas por que é que se hão-de aborrecer?
E quem não se aborreceria? - respondeu Banford.
-- Lamento muito saber disso - disse cu Ião ele com solene gravidade.
- E é mesmo de lamentar, especialmente He pensa que se vai divertir muito por aqui - volveu Banford.
Ele olhou-a demoradamente, um ar de seriedade estampado no rosto.
- Bom - disse, com aquela sua jovem e estranha gravidade -, por mim sinto-me aqui muito bem, até me divirto bastante.
- Pois folgo em ouvi-lo - retrucou Banford. E voltou ao seu livro. Apesar de ainda não ter trinta anos já se viam nos seus cabelos finos, algo frágeis e ralos, muitos fios grisalhos. O rapaz, não tendo baixado os olhos para o livro, fitava agora March, que permanecia sentada entregue ao seu laborioso croché, os olhos esbugalhados e ausentes, a boca crispada. Tinha uma pele quente, ligeiramente pálida e fina, um nariz delicado. A boca crispada dava-lhe um ar azedo. Mas esse aparente azedume ira contrariado pelo curioso arquear das sobrancelhas negras, pela amplitude do seu olhar, um ar de maravilha e incerteza nos olhos espantados. Estava outra vez a tentar ouvir o raposo, que entretanto parecia ter-se afastado, errando agora nas lonjuras da noite.
O rapaz, sentado junto ao candeeiro, o rosto erguido assomando por sob o rebordo do quebra-luz, observava-a em silêncio, um ar atento nos olhos arredondados, muito vivos e claros. Banford, mordiscando os dedos, irritada, olhava-o de soslaio por entre os cabelos caídos. Quedando-se sentado numa imobilidade de estátua, o rosto avermelhado inclinado por sob a luz para emergir um pouco abaixo desta no limiar da penumbra, ele continuava a observar March com um ar de absorta concentração. Esta, erguendo subitamente os grandes olhos negros do croché, olhou-o por seu turno. E, ao encará-lo, soltou uma pequena exclamação de sobressalto.
- Lá está ele! - gritou de modo involuntário, como alguém terrivelmente assustado.
Banford, estupefacta, passeou os olhos pela sala, endireitando-se na cadeira.
- Mas o que é que te deu, Nellie? - exclamou ela.
Mas March, um leve tom rosa nas faces ruborizadas, estava a olhar para a porta.
- Nada! Nada! - respondeu de mau modo. - Já não se pode falar?
- Pode, claro que pode - disse Banford. - Desde que tenha algum sentido... Mas que querias tu dizer?
- Não sei, não sei o que quis dizer - replicou March, impaciente.
- Oh, Nellie, espero que não estejas a tornar-te - nervosa e irritável. Sinto que não poderia suportá-lo! Mais isso, não! - disse a pobre Banford, num ar assustado. - Mas a quem te referias? Ao Henry?
- Sim, suponho que sim - declarou March, lacónica. Nunca teria tido coragem de falar do raposo.
- Oh, meu Deus! Esta noite estou com os nervos arrasados - lamentou-se Banford.
Às nove horas, March trouxe um tabuleiro com pão, queijo e chá, pois Henry declarara preferir uma chávena de chá. Banford bebeu um copo de leite acompanhado com um pouco de pão. E mal acabara ainda de comer quando disse:
- Vou-me deitar, Nellie. Esta noite estou uma pilha de nervos. Não vens também?
- Sim, vou já, é só o tempo de ir arrumar o tabuleiro - respondeu March.
- Não te demores, então - disse Banford, algo agastada. - Boa noite, Henry. Se for o último a subir, não se esqueça do lume, está bem?
- Sim, Miss Banford, não me esquecerei, esteja descansada - replicou ele em tom tranquilizador.
Enquanto Banford subia as escadas já de palmatória na mão, March acendia entretanto uma vela a fim de ir até à cozinha. Ao voltar à sala, aproximou-se da lareira e, virando-se para ele, disse-lhe:
- Suponho que podemos contar consigo para apagar o lume e deixar tudo em ordem, não? - Estava de pé, uma mão apoiada na anca, o joelho flectido, a cabeça timidamente desviada, um pouco de lado, como se não pudesse olhá-lo de frente. De rosto erguido, ele observava-a em silêncio.
- Venha sentar-se aqui um minuto - disse então.
- Não, tenho de ir andando. Jill está à minha espera e pode ficar inquieta se eu não for já.
- Porque se sobressaltou daquela maneira há bocado? - perguntou ele.
- Mas eu sobressaltei-me? - retorquiu ela, olhando-o.
- Ora essa! Ainda há instantes - disse ele. - Na altura em que você gritou.
- Oh, isso! - exclamou da. - Bom, é que o tomei pelo raposo! - E contraiu o rosto num estranho sorriso, meio embaraçado, meio irónico.
- O raposo! Mas porquê o raposo? - inquiriu ele com grande suavidade.
- Bom, é que no Verão passado, numa tarde em que tinha saído de espingarda, vi o raposo por entre as ervas, quase ao pé de mim, a olhar-me fixamente. Não sei, suponho que foi isso que me impressionou. - E voltou a virar a cabeça, balouçando ao de leve um dos pés, com um ar constrangido.
- E matou-o? - perguntou o rapaz.
- Não, pois ele pregou-me um tal susto, ali a olhar muito direito para mim, que o deixei afastar-se. Mas depois voltou a parar, virando-se então para trás e olhando-me como que a rir-se...
- Como que a rir-se! - repetiu Henry, rindo--se por seu turno. - E isso assustou-a, não foi?
- Não, ele não me assustou. Apenas me impressionou, mais nada.
- E pensou então que eu era o raposo, não é? - disse ele, rindo daquela forma estranha, sacudida, um ar de cachorrinho no nariz franzido.
- Sim, na altura pensei - respondeu ela. - Se calhar, e ainda sem o saber, não me saiu da cabeça desde então.
- Ou talvez você pense que eu vim cá roubar-lhe as galinhas ou algo assim - retorquiu ele, naquele seu riso juvenil.
Mas ela limitou-se a olhá-lo com um ar vago e ausente nos grandes olhos negros.
- E a primeira vez - disse então ele - que me confundem com um raposo. Não quer sentar-se por um minuto? - Falava agora num tom de grande suavidade, meigo e persuasivo.
- Não, não posso - volveu ela. - Jill deve estar à espera. - Mas deixou-se ficar especada, um pé a bambolear, o rosto desviado, ali parada no limiar do círculo de luz.
- Mas não quer então responder à minha pergunta? - disse ele, baixando ainda mais a voz.
- Não sei a que pergunta se refere.
- Sabe, sim. E claro que sabe. Eu perguntei-lhe se se queria casar comigo.
- Não, não devo responder a uma tal pergunta - replicou ela, categórica.
- Mas porque não? - E voltou a franzir o nariz, de novo tomado por aquele seu curioso riso juvenil. - E porque eu sou como o raposo? E por isso? - E ria-se com gosto.
Virando-se, ela fitou-o num olhar lento, demorado.
- Não deixarei que isso se interponha entre nós - disse ele então. - Deixe-me baixar a luz e venha sentar-se aqui um instante.
Enfiando a mão por baixo do quebra-luz, a pele vermelha quase incandescente sob o fulgor da lâmpada, baixou subitamente a luz até quase a apagar. March, sem se mover, quedou--se de pé em meio à obscuridade, indistinta, vaga, quase irreal. Então, ele ergueu-se silenciosamente, firmando-se nas suas longas pernas. E falava agora com uma voz extraordinariamente suave e sugestiva, quase inaudível.
- Deixe-se ficar um momento - disse. - Só um momento. - E pôs-lhe a mão no ombro. Ela virou-se então para ele. - Não acredito que possa realmente pensar que sou como o raposo - continuou ele com a mesma suavidade, uma leve sugestão de riso no tom algo trocista. - Não está a pensar nisso agora, pois não? - E, com extrema gentileza, atraiu-a para si, beijando-lhe suavemente o pescoço. Ela retraiu-se, estremecendo, e tentou escapar-lhe. Mas o braço dele, jovem e forte, fê-la imobilizar-se, enquanto ele voltava a beijá-la no pescoço com grande suavidade, pois ela insistia em desviar o rosto.
- Não quer responder à minha pergunta? Não quer? Agora, aqui mesmo... - voltou a repetir numa voz suave, arrastada, quase langorosa. Estava agora a tentar puxá-la mais para si, a tentar beijá-la no rosto. Beijou-a então numa das faces, junto ao ouvido.
Nesse momento, ouviu-se a voz de Banford, enfadada e azeda, a chamar do alto das escadas.
- É Jill! - exclamou March, endireitando--se, assustada.
Porém, ao fazê-lo, ele, rápido como um relâmpago, beijou-a na boca, um beijo corrido, quase de raspão. Ela sentiu que todo o seu ser se lhe incendiava, que todas as fibras lhe ardiam. Deu então um estranho grito, curto e rápido.
- Casa, não casa? Diga que sim! Casa? - insistiu ele suavemente.
- Nellie! Nellie! Porque é que te demoras tanto? - voltou a gritar Banford, numa voz fraca, distante, vinda da escuridão envolvente.
Mas ele mantinha-a bem segura, continuando a murmurar-lhe com intolerável suavidade e insistência:
- Casa, não casa? Diga que sim! Diga que sim!
March, com a sensação de estar possuída por um fogo abrasador, as entranhas a arder, sentindo-se destruída, incapaz de reagir, limitou-se a murmurar:
- Sim! Sim! Tudo o que quiser! Tudo o que quiser! Mas deixe-me ir! Deixe-me ir! Jill está a chamar!
- Não se esqueça do que prometeu - disse então ele, insidiosamente.
- Sim! Sim! Bem sei! - Falava agora num tom subitamente alto, com uma voz gritada, estridente, quase que um guincho. - Está bem, Jill, vou já!
Surpreendido, ele largou-a. Quase a correr, ela subiu então rapidamente as escadas.
Na manhã seguinte, depois de ter dado as suas voltas e tratado dos animais, pensando para consigo que até se podia ali viver muito bem, disse para Banford enquanto tomavam o pequeno-almoço:
- Sabe uma coisa, Miss Banford?
- Diga lá! O que é? - respondeu Banford, com o seu ar nervoso e afável de sempre.
Ele olhou então para March, ocupada a pôr geleia no pão.
- Digo-lhe? - perguntou-lhe.
Ela olhou para ele, o rosto invadido por um intenso rubor róseo.
- Sim, se se está a referir a Jill - respondeu ela. - Só espero que não vá espalhar por toda a aldeia, nada mais. - E engoliu o pão seco com uma certa dificuldade.
- Bom, que irá sair daí? - disse Banford, erguendo os olhos vazios e cansados, ligeiramente vermelhos também. Era uma figurinha fina, frágil, com um cabelo curto, delicado e ralo, de tons desmaiados, já algo grisalho no seu castanho-claro, caindo-lhe suavemente sobre o rosto macilento.
- Pois que pensa que possa ser? - indagou ele, sorrindo como quem está de posse de um segredo.
- Como hei-de eu saber?! - exclamou Banford.
- Não pode adivinhar? - insistiu ele, de olhos brilhantes, um sorriso de profunda satisfação estampado no rosto.
- Não, creio bem que não. Mais, nem sequer me vou dar ao trabalho de tentar.
- Nellie e eu vamo-nos casar.
Banford soltou a faca, deixando-a cair dos dedos magros e delicados como quem não tivesse qualquer intenção de voltar a comer com ela em dias da sua vida. E ficou ali a olhar, perplexa, os olhos atónitos e avermelhados.
- Vocês o quê?! - exclamou então.
- Vamo-nos casar. Não é verdade, Nellie? - disse ele, virando-se para March.
- Pelo menos é o que você diz - respondeu esta, lacónica. Mas de novo o rosto se lhe ruborizou num fulgor de agonia. E também ela se sentia agora incapaz de engolir.
Banford olhou-a qual pássaro mortalmente atingido, um pobre passarinho doente, abandonado e só. E, com um rosto em que se lia todo o sofrimento que lhe ia na alma, envolveu March, profundamente ruborizada, num olhar de espanto, pasmo e dor.
- Nunca! - exclamou então, sentindo-se desamparada e perdida.
- Pois é bem verdade - disse o jovem, um brilho maldoso nos olhos exuberantes.
Banford desviou o rosto, como se a simples visão da comida na mesa lhe desse agonias. E, como se estivesse realmente enjoada, quedou-se assim sentada durante algum tempo. Então, apoiando uma mão na borda da mesa, pôs-se finalmente de pé.
- Nunca acreditarei nisso, Nellie, nunca! - gritou. - É absolutamente impossível!
Havia na sua voz aflita e plangente um leve tom de desespero, de fúria, quase que de raiva.
- Porquê? Porque não deveria acreditar? - perguntou o jovem, com aquele seu tom de impertinência na voz suave e aveludada.
Banford olhou para ele do fundo dos seus olhos vagos e ausentes, como se ele não passasse de um qualquer animal de museu.
- Oh! - disse ela em voz fraca. - Porque ela não pode ser assim tão louca, não pode ter perdido o seu amor-próprio a um ponto tal. - Falava de forma desgarrada, como que à deriva, numa voz desanimada e dolente.
- Mas em que sentido é que ela iria perder o seu amor-próprio? - perguntou o rapaz.
Por detrás dos óculos, Banford olhou-o fixamente com um ar distante e ausente.
- Se é que já não o perdeu - disse.
Sob a insistência daquele olhar vago e abstracto, emergindo por detrás das grossas lentes, ele tornou-se muito vermelho, quase escarlate, o rosto febril, afogueado.
- Não estou a perceber nada - disse então.
- Se calhar, não. Aliás, não esperava que percebesse - respondeu Banford naquele seu tom suave, distante e arrastado, que tornava as suas palavras ainda mais insultuosas.
Ele inteiriçou-se na cadeira, quedando-se rigidamente sentado, os seus olhos azuis a brilharem, ardentes, no rosto escarlate. Fitava-a agora de sobrolho carregado, um ar de ameaça no rosto tenso.
- Palavra que ela não sabe em que é que se está a meter - continuou Banford na mesma voz plangente, arrastada, insultuosa.
- Mas que é que isso lhe importa, afinal de contas? - disse o jovem, irritado.
- Provavelmente muito mais do que a si - replicou ela, a voz simultaneamente dolente e venenosa.
- Ah, sim?! Pois olhe que continuo sem perceber nada! - explodiu ele.
- É natural. Aliás, não creio que o pudesse perceber - retorquiu ela, evasiva.
- De qualquer forma - disse March, empurrando a cadeira para trás e levantando--se, abrupta -, não serve de nada estar para aqui a discutir. - E, agarrando no pão e no bule do chá, dirigiu-se a passos largos para a cozinha.
Banford, como que em êxtase, passou uma mão pela testa, os dedos trémulos e nervosos errando-lhe ao longo dos cabelos. Depois, voltando costas, desapareceu escada acima.
Henry deixou-se ficar sentado, um ar rígido e carrancudo, de rosto e olhos em fogo. March andava de cá para lá, levantando a mesa. Mas Henry não arredava pé, paralisado pela raiva. Quase que nem dava por ela. Esta readquirira a sua habitual compostura, exibindo uma tez cremosa, macia, uniforme. Contudo, os lábios permaneciam cerrados, a boca crispada. Mas sempre que vinha buscar coisas da mesa, deitava-lhe um rápido olhar, espreitando-o com os seus grandes olhos atentos, mais por simples curiosidade do que por qualquer outro motivo. Um rapaz tão crescido, com um rosto tão carrancudo e vermelhusco! Ei-lo tal como agora estava, para ali sentado muito quieto. Além disso, parecia estar muito longe dali, tão distante dela como se o seu rosto afogueado não passasse de um simples cano vermelho de chaminé numa qualquer cabana perdida algures nos campos. E ela observava-o com a mesma distanciação, com a mesma objectividade.
Finalmente, ele levantou-se e, com um ar grave, saiu porta fora a grandes passadas, dirigindo-se para os campos de espingarda na mão. Só voltou à hora do almoço, o mesmo ricto demoníaco no rosto irado, mas com modos assaz delicados e corteses. Ninguém disse nada de especial, tendo ficado sentados em triângulo, cada um em sua ponta, todos com um ar abstracto, ausente, fechados no mesmo obstinado silêncio. De tarde, voltou a sair de espingarda na mão, retirando-se imediatamente após a comida. Voltou ao cair da noite com um coelho e um pombo, quedando-se então em casa durante todo o serão, quase sem dizer palavra. Estava furioso, enraivecido, com a sensação de ter sido insultado.
Banford tinha os olhos vermelhos, obviamente por ter estado a chorar. Mas os seus modos eram mais distantes e sobranceiros do que nunca, especialmente na forma como desviava o rosto quando ele, por acaso, calhava falar, como se o considerasse um vagabundo um reles intruso, enfim, um miserável qualquer da mesma laia, pelo que os olhos azuis do rapaz quase que se tornavam negros de raiva, uma expressão ainda mais carregada no rosto sombrio. Mas nunca perdia o seu tom de polidez sempre que abria a boca para falar.
March, pelo contrário, parecia rejubilar naquela atmosfera. Sentada entre os dois antagonistas, bailava-lhe no rosto um leve sorriso perverso, como que profundamente divertida com tudo aquilo. Quase que até havia uma espécie de complacência no modo como naquela noite trabalhava no seu lento e laborioso croché.
Uma vez deitado, o jovem deu-se conta de que as duas mulheres conversavam e discutiam no quarto delas. Sentando-se na cama, apurou o ouvido na tentativa de perceber aquilo que estavam a dizer. Mas não pôde ouvir nada, pois os quartos ficavam demasiado longe um do outro. Não obstante, foi-lhe possível distinguir o timbre brando e plangente da voz de Banford em contraponto com o tom de March, mais fundo e cavo.
Estava uma noite calma, silenciosa e glacial. Grandes estrelas cintilavam no céu, para lá dos cumes mais altos dos pinheiros. Atento, ele escutava e tornava a escutar. Na distância, ouviu o regougar do raposo, o ladrar dos cães que lhe respondiam das quintas. Mas nada disso lhe interessava. De momento, o seu único interesse era poder ouvir aquilo que as duas mulheres estavam a dizer.
Saltando furtivamente da cama, pôs-se de pé junto à porta. Mas, tal como antes, era-lhe impossível ouvir fosse o que fosse. Então, com todo o cuidado, começou a levantar o trinco e, ao fim de algum tempo, a porta deu finalmente de si. Depois, esgueirando-se sub-repticiamente para o corredor, deu alguns passos cautelosos. Mas as velhas tábuas de carvalho, geladas sob os seus pés nus, estavam com rangidos insólitos, inoportunos. Pé ante pé, deslizou então com todo o cuidado, sempre rente à parede, até atingir o quarto das raparigas. Imobilizando-se aí, junto à porta, susteve a respiração e apurou o ouvido. Era Banford quem estava agora a falar:
- Não, isso ser-me-ia pura e simplesmente insuportável. Um mês que fosse e estaria morta. Aliás, é isso mesmo que ele pretende, é claro. E esse o seu jogo, ver-me enterrada no cemitério. Não, Nellie, se fizeres uma coisa dessas, se casares com ele, não poderás ficar aqui. Eu nunca poderia viver com ele na mesma casa. Oh! Só o cheiro das roupas dele quase que me põe doente. E aquela cara sempre vermelha, sempre congestionada... Dá-me cá umas agonias que até se me revolvem as entranhas! Nem consigo comer quando ele está à mesa, parece que a comida não me passa da garganta. Que louca fui em deixá-lo cá ficar! Nunca nos devemos deixar levar pela nossa bondade, é o que é. Praticar boas acções paga-se sempre muito caro... E como um bumerangue, viram-se sempre contra nós...
- Bem, também já só faltam dois dias para se ir embora - disse March.
- Sim, graças a Deus! E, uma vez fora, não voltará a pôr os pés nesta casa. Sinto-me tão mal quando ele cá está!... E eu bem sei que ele mais não quer do que explorar-te, aproveitar--se de ti... E só isso que lhe interessa, nada mais. Ele não passa de um inútil, de um imprestável! Não quer trabalhar, só pensa em viver à nossa custa... Ah, mas para cá vem de carrinho, que comigo não conta ele!... Se te queres armar em parva, isso é lá contigo! Olha, Mrs. Burguess conheceu-o muito bem quando ele cá viveu. E sabes o que ela diz?... Que o velhote nunca conseguiu que ele fizesse qualquer trabalho direito. Estava sempre a escapar-se para andar por aí de espingarda na mão, tal como faz agora. E só disso que ele gosta, de andar para aí de espingarda! Oh, como eu detesto essa mania, meu Deus, como eu a odeio!... Tu não sabes no que te vais meter, Nellie, não sabes. Se casares com ele, ele vai fazer de ti parva! Mais tarde ou mais cedo, acaba por se pôr ao fresco e deixa-te para aí em apuros. Sim, sim, que eu bem sei!... Isto se não nos conseguir esbulhar de Bailey Farm... Ah, mas disso está ele livre, pelo menos enquanto eu viver!... Enquanto eu viver, ele nunca voltará a pôr aqui os pés, isso te garanto eu!... Sim, que eu bem sei o que iria sair daí. Não ia tardar muito que não começasse a armar em senhor, pensando que podia mandar em nós... Aliás, como já pensa que manda em ti.
- Mas não manda - replicou Nellie.
- Seja como for, ele pensa que manda. E é isso mesmo que ele quer, meter-se aqui e ser ele o dono e senhor. Sim, estou mesmo a vê--lo, a querer mandar em tudo! E será que foi para isso que decidimos instalar-nos aqui, para sermos escravizadas e brutalizadas por um tipo odioso e sanguíneo, um qualquer jornaleiro bestial? Oh, não há dúvida de que cometemos um terrível erro ao deixá-lo cá ficar! Nunca nos devíamos ter rebaixado a esse ponto. E eu que tanto tive de lutar com a gente desta terra para não ter de descer ao seu nível. Não, ele não vai cá ficar. Ah, e então hás-de ver!... Se não se puder instalar por aqui com armas e bagagens, vai voltar a desaparecer, a partir para o Canadá ou para qualquer outro lado, abandonando-te como se tu nunca tivesses existido. E lá ficarás tu completamente arruinada, para aí feita uma parva, objecto do escárnio de toda esta gente. E eu sei que nunca mais poderei ter paz, que nunca mais me poderei recompor...
- Pois vamos dizer-lhe que não pode cá ficar. Vamos dizer-lhe que não pode ser, que tem de partir, está bem? - disse March.
- Oh, não te incomodes! Sou eu quem lho vai dizer, isso e muito mais, antes de ele se ir embora. Não vai ser tudo como ele quer, pelo menos enquanto me restarem forças para falar, isso to garanto. Oh, Nellie, ele vai desprezar-te como besta que é, aquele imundo animal! Basta que lhe dês azo e vais ver. Ser-me-ia mais fácil acreditar num gato que não roubasse do que ter qualquer confiança nele. Ele é dissimulado, prepotente, egoísta da cabeça aos pés, frio como gelo. Só quer aproveitar-se de ti, nada mais. E quando já não lhe interessares, quando já não lhe servires para nada, pobre de ti!
- Bom, também não creio que seja assim tao mau... - disse March.
- Pois enganaste! Pensas isso porque contigo ele anda a disfarçar. Mas espera até o conheceres melhor e hás-de ver. Oh, Nellie nem aguento pensar nisso! Pensar em ti assim...
- Mas, querida Jill, tu não terás nada a ver com isso! Nada te acontecerá, não tens que ter receio...
- Ah, não? Nada me acontecerá, não é?... Isso dizes tu, mas eu sei que nunca mais terei um momento de descanço, que nunca mais voltarei a ser feliz. Não, Nellie, nunca mais serei feliz!... - E Banford pôs-se a chorar amargamente.
O rapaz, de pé do lado de fora da porta, pôde ouvir os soluços abafados da mulher. Depois, a voz de March, que no seu tom profundo, suave, terno, confortava, com gentileza e ternura, a amiga lavada em lagrimas.
Tinha os olhos desmesuradamente abertos, tão redondos e vazios que dir-se-ia conterem em si toda a imensidão da noite, além de que os ouvidos, como que descolados da cabeça, quase que pareciam querer saltar fora. Estava meio morto de frio, o corpo gelado e hirto. Então, deslizou silenciosamente de volta ao quarto, voltando a deitar-se na cama. Mas sentia uma dor aguda no alto da cabeça, como se esta lhe fosse estalar. Assim, não conseguia dormir nem estar quieto. Decidindo, pois, levantar-se, vestiu-se com todo o cuidado, evitando fazer barulho, e voltou a sair para o patamar. As mulheres estavam agora em silencio. Descendo cautelosamente as escadas, dirigiu-se então até à cozinha.
Uma vez aí, calçou as botas, pôs o sobretudo e pegou na espingarda. Não que tenha pensado em se afastar da quinta. Apenas pegou na espingarda, nada mais. Tão silenciosamente quanto possível, abriu a porta e saiu para o exterior, mergulhando assim no frio glacial daquela noite de Dezembro. Estava um ar parado, com as estrelas a cintilarem lá no alto por sobre os picos acerados dos pinheiros, recortando-se, sussurrantes, contra o céu límpido e claro. Dirigindo-se furtivamente para junto de uma sebe, olhou em volta à procura de caça. Porém, lembrou-se de repente de que não devia disparar para não assustar as mulheres.
Assim, ladeando os montes de tojo, cortando depois através do matagal por entre velhos e altos azevinhos, foi perscrutando a escuridão com olhos tão dilatados e brilhantes como os de um gato, simultaneamente negros e luzidios, capazes de penetrarem as trevas com tanta acuidade como se fosse dia. Um mocho piava monótona e lastimosamente junto de um velho carvalho. Avançando devagar, pé ante pé num passo furtivo, a espingarda bem firme na mão, ele seguia atento, ouvido à escuta, alerta ao menor ruído.
Ao chegar junto dos carvalhos da orla do bosque, parando por instantes para apurar melhor o ouvido, deu-se conta de que os cães da cabana vizinha, no alto da colina, tinham desatado subitamente a ladrar, como que alvoroçados, acordando assim os cães das quintas em redor que ladravam agora em resposta. E, de repente, teve a sensação de que a Inglaterra se tornava mais pequena e acanhada, que a própria paisagem como que se contraía na escuridão, que demasiados cães povoavam a noite com um estrépito semelhante a uma barreira de som, como um labirinto de sebes inglesas em que a vista se enredasse, baralhada e perdida. E sentiu que o raposo não tinha qualquer hipótese. Pois só podia ter sido o raposo a desencadear todo aquele tumulto.
Aliás, porque não pôr-se à espera dele? Na certa que devia vir por aí, farejando tudo em seu redor. O rapaz desceu então a colina até ao local onde a quinta e alguns raros pinheiros se acocoravam no escuro. Chegando junto ao comprido barracão, agachou-se numa esquina, em meio às trevas envolventes. Sabia que o raposo estava a chegar. E pareceu-lhe a ele que aquele devia ser o último da sua espécie naquela Inglaterra repleta de clamorosos latidos, ininterruptos e furiosos, correndo, acossado, por entre um nunca mais acabar de casas, casinhas e casinhotos.
Deixou-se estar sentado por longo tempo, olhos invariavelmente fixos no portão aberto, lá onde parecia haver uma pálida luz, quem sabe se vinda das estrelas ou do horizonte. Estava sentado num toro com a espingarda em cima dos joelhos, oculto num canto escuro. De quando em vez, ouvia os estalidos dos pinheiros. No celeiro, houve uma altura em que uma galinha, tendo caído do poleiro com um baque surdo, desatou a cacarejar, alvoroçada, pelo que ele se ergueu, estremecendo, e ficou a olhar, olhos e ouvidos muito abertos, pensando que tivesse sido um rato. Mas não, sentiu que não fora nada. Assim, voltou a sentar-se com a espingarda em cima dos joelhos e as mãos enfiadas debaixo dos braços para as aquecer, o olhar fixamente cravado na pálida luminosidade do portão aberto, sem um pestanejo sequer nos olhos firmes e atentos. Entrando-lhe pelas narinas, sentiu o odor quente, enjoativo e forte das galinhas que dormiam, pairando no ar frio e cortante.
E então... Uma sombra. Deslizando pelo portão, viu passar uma sombra. Concentrando o olhar num único e poderoso foco visual, viu então a sombra do raposo, viu o raposo rastejando sobre o ventre através do portão. Lá estava ele, de ventre rastejante como uma cobra. Sorrindo para consigo, o rapaz levou a arma ao ombro. Sabia perfeitamente como tudo se iria passar. Sabia que o raposo se ia dirigir para junto das tábuas da porta do galinheiro, pondo-se aí a farejar. E sabia que ele se ia quedar aí uns instantes, sentindo o cheiro das galinhas no interior. Então, pôr-se-ia de novo a rondar por ali, focinho rente ao chão junto às paredes do velho celeiro, à espera de descobrir por onde entrar.
A porta do galinheiro ficava ao cimo de uma ligeira subida. Tão suave e imperceptível como uma sombra, o raposo rastejou ao longo da subida e acocorou-se de focinho encostado às tábuas. Nesse preciso momento, ouviu-se o estrondo ensurdecedor do disparo da caçadeira ecoando entre os velhos edifícios, quase como se a noite tivesse explodido, mil e um estilhaços voando no ar. Mas o rapaz quedou-se na expectativa, olhar atento e brilhante. E viu então o ventre branco do raposo, as patas do animal debatendo-se no ar nas vascas da agonia. Depois, encaminhou-se para lá.
Em redor, a agitação e o tumulto eram indescritíveis. As galinhas debatiam-se e cacarejavam, os patos grasnavam, o pónei escouceava, enlouquecido. Mas a seu lado estava o raposo, o corpo percorrido pelos espasmos da morte. Debruçando-se sobre ele, o rapaz aspirou aquele característico odor vulpino.
Ouviu então o ruído de uma janela a abrir-se no andar de cima, chegando-lhe depois aos ouvidos a voz de March, inquirindo num grito:
- Quem está aí?
- Sou eu - disse Henry. - Acabo de disparar sobre o raposo.
- Oh, meu Deus! Sabe que quase nos matou de susto?
- Ah, sim? Lamento imenso.
- Mas porque é que se levantou?
- Ouvi-o, ou melhor, senti que ele andava por aqui.
- E então, matou-o?
- Sim, está aqui - disse o rapaz, de pé no meio do pátio, erguendo no ar o corpo ainda quente do animal. - Consegue vê-lo, não consegue? Espere um instante. - E, tirando a lanterna eléctrica do bolso, fê-la incidir no corpo morto do raposo, dependurado pela cauda na sua mão robusta. March viu então, em meio às trevas circundantes, a pelagem avermelhada, o ventre alvo, a mancha branca por debaixo do focinho pontiagudo, as patas pendentes, algo grotescas naquela estranha pose, abandonadas, sem vida. Não soube que dizer.
- E uma beleza - disse então ele. - Vai ficar com uma linda pele para poder usar quando lhe apetecer.
- Nunca me há-de ver com uma pele de raposa, disso pode ter a certeza - respondeu ela.
- Oh! - exclamou o rapaz, apagando a lanterna.
- Bom, acho que agora devia vir para dentro e voltar a deitar-se - aconselhou ela.
- Sim, provavelmente é o que farei. Que horas são?
- Que horas são, Jill? - perguntou March lá para dentro. Era uma menos um quarto.
Naquela noite, March teve outro sonho. Sonhou que Banford tinha morrido, e que ela, March, de coração despedaçado, chorava amargamente. Depois, tinha de pôr Banford num caixão. E o caixão não era mais do que a tosca caixa de madeira que tinham na cozinha, junto ao fogo, e da qual se serviam para guardar a lenha miúda. Este era o caixão, pois não havia mais nada que pudesse servir, pelo que March, perfeitamente desesperada, andava numa aflição doida à procura de qualquer coisa com que forrar a caixa, de qualquer coisa que a tornasse mais macia, de qualquer coisa com que pudesse também cobrir o pobre corpo morto da sua querida amiga. Pois não podia deixá-la ali deitada só com o seu roupão branco vestido, naquela horrível caixa de madeira. Assim, procurou e voltou a procurar, rebuscando tudo, pegando nisto e naquilo, examinando peça após peça para logo as pôr de lado, o coração opresso pela frustração de nada encontrar na agonia do seu sonho. E em todo o seu desespero subconsciente nada mais achou que pudesse servir, tão-só uma pele de raposo. Sabia que isso não estava certo, que não era próprio para o fim em vista, mas foi tudo o que pôde achar. E então dobrou a cauda do raposo, pousando nela a cabeça da sua querida Jill, e aproveitou a pele do mesmo para com ela cobrir a parte superior do corpo, de tal modo que este tinha o ar de jazer sob uma colcha escarlate, de um vermelho chamejante. À vista disso, desatou a chorar convulsivamente, em copioso pranto, para depois acordar e dar consigo banhada em lágrimas, escorrendo-lhe, ácidas, pelo rosto.
Pela manhã, a primeira coisa que ambas fizeram, tanto ela como Banford, foi saírem para ir ver o raposo. O rapaz colocara-o no barracão, pendurado pelas patas traseiras, a cauda inerte caída para trás. Era um belíssimo macho em pleno apogeu, revestido da sua magnífica pelagem de Inverno, espessa e farta, com uma bonita cor vermelho-dourada, tornando-se acinzentada ao passar para o ventre, este já de um branco alvíssimo. Na cauda, comprida e abundante, predominavam o preto e o cinzento, delicada amálgama que morria ao chegar à ponta, de um branco imaculado.
- Pobre animal! - disse Banford. - Se não fosse tão patifório, tão ladrão, era caso para ter pena dele.
March nada disse, quedando-se, absorta, com todo o seu peso assente num só pé, a anca saliente, o outro pé a arrastar, abandonado e indolente. As faces pálidas, abria os seus grandes olhos negros, como que hipnotizada pela visão do corpo morto do animal, suspenso de cabeça para baixo. Tinha o ventre tão branco, tão macio... Lembrava a branca alvura da neve, pensou ela. E passou-lhe docemente a mão por cima. A cauda, de um negro maravilhoso, resplandecente, era farta, roçagante, uma maravilha! E, passando-lhe também a mão por cima, sentiu-se estremecer. Repetidas vezes, mergulhou os dedos por entre a abundante pelagem da cauda, espessa e farta, percorrendo-a depois com a mão num lento movimento descendente. Que cauda maravilhosa, tão afilada e espessa, tão bela e resplandecente! E ei-lo ali morto! Os olhos escuros e ausentes, franziu a boca num esgar, os lábios contraídos. Depois, tomou então aquela cabeça nas mãos, quedando-se, absorta.
Henry andava por ali, de um lado para o outro, pelo que Banford acabou por se ir embora, virando-lhe ostensivamente as costas. March, com a cabeça do raposo nas mãos, ficou ao imóvel, mente perturbada e confusa. Estava pensativa, admirando aquele comprido focinho, alongado e esguio. Por qualquer razão, este lembrava-lhe uma colher ou uma espátula. E sentiu que semelhante coisa lhe era incompreensível. Para si, o animal era um bicho estranho, enigmático, fora da sua compreensão. E que belos bigodes prateados ele tinha, mais pareciam de gelo, quais finíssimas estalactites. As orelhas espetadas, cheias de pêlo por dentro, destacavam-se por sobre aquele comprido nariz de colher, delgado e esguio. Emergindo deste, viam-se uns dentes maravilhosamente brancos, lançados para a frente, dentes para abocanhar e morder, penetrando fundo nas entranhas da presa, dentes que despedaçavam, que rasgavam, que mordiam, dentes ávidos de sangue, ávidos de vida.
- É uma beleza, não é? - disse Henry, de pé, junto dela.
- Oh, sim! É um magnífico raposo! E bem grande! Ainda gostaria de saber de quantas galinhas deu ele cabo - retorquiu ela.
- De bastantes, estou certo. Pensa que será o mesmo raposo que viu no Verão?
- Acho que sim, que deve ser. Provavelmente é mesmo ele - volveu ela.
Ele observou-a, atento, sem contudo, chegar a qualquer conclusão. Em parte, ela parecia--lhe muito tímida, inexperiente, quase virginal, mas, por outro lado, revelava-se igualmente bastante austera, prosaica, azeda mesmo. Quando falava, aquilo que dizia dava--lhe sempre a sensação de não concordar com a sua enigmática expressão, destoando do que ressaltava dos seus grandes olhos negros.
- Vai esfolá-lo? - perguntou ela.
- Sim, depois de tomar o pequeno-almoço e de ir buscar uma tábua onde o possa pregar.
- Mas que cheiro tão forte que ele deita, palavra! PuahhL. Vou ter de lavar muito bem as mãos. Não sei que me deu para ser tão parva ao ponto de lhe pegar - disse então ela, olhando para a sua mão direita, aquela que antes passeara pelo ventre e pela cauda do animal, agora levemente manchada de sangue devido à marca escura que aquele tinha na pele.
- Já reparou como as galinhas ficaram tão assustadas mal o cheiraram? - perguntou ele.
- Sim, lá isso é verdade!
- Tenha cuidado não vá apanhar pulgas, olhe que ele está cheio delas!
- Oh! Pulgas!... - replicou ela com indiferença.
Nesse mesmo dia, veio mais tarde a ver a pele do raposo esticada e pregada numa tábua, dir-se-ia quase que crucificada. E sentiu um estranho mal-estar.
O rapaz continuava furioso. Andava por ali sem dizer palavra, de lábios cerrados, como se houvesse engolido parte dos queixos. Mas, como de costume, comportava-se de forma correcta, sempre cortês e afável. Não disse absolutamente nada sobre as suas intenções. E, além do mais, não abordou March o dia inteiro.
Naquela noite, deixaram-se estar na sala de jantar, pois Banford não queria voltar a vê-lo na sua salinha. Uma enorme acha ardia suavemente na lareira. Todos pareciam ocupados: Banford a escrever cartas, March a coser um vestido e ele a consertar qualquer pequeno utensílio. De tempos a tempos, Banford parava de escrever a fim de descansar os olhos, aproveitando então para dar uma olhadela em seu redor. O rapaz estava de cabeça baixa, debruçado sobre o seu trabalho, o rosto oculto entre os braços.
- Ora, vejamos! - disse Banford. - Qual o comboio em que pensa partir, Henry?
Ele levantou a cabeça, olhando de frente.
- No de amanhã de manhã - respondeu.
- Qual, no das oito e dez ou no das onze e vinte?
- No das onze e vinte, suponho eu - replicou ele.
- Mas isso é só depois de amanhã, não é? - disse Banford.
- Sim, é verdade, é só depois de amanhã.
- HummL. - murmurou Banford, voltando à sua escrita. Mas, na altura em que lambia conscienciosamente o envelope para depois o fechar, voltou a perguntar: - E quais são os seus planos para o futuro, se me permite a pergunta?
- Planos? - volveu ele, o rosto afogueado e colérico.
- Sim, sobre você e Nellie, se sempre vão por diante com as vossas intenções. Quando é que a boda terá lugar? - Falava num tom sarcástico, escarninho.
- Oh, a boda! - retorquiu ele. - Não sei.
- Mas não tem nenhuma ideia? - disse Banford. - Então você vai-se embora na sexta e deixa as coisas como estão?
- Bom, e porque não? Podemos sempre escrever-nos.
- E claro que sim. Mas eu gostava de saber por causa da quinta. É que, se a Nellie se vai casar assim de repente, vou ter de procurar outra sócia.
- Mas ela não poderia ficar aqui mesmo depois de casar? - perguntou ele, sabendo muito bem qual seria a resposta.
- Oh! - disse Banford. - Isto não é lugar para um casal. Primeiro, porque não há trabalho suficiente para ocupar um homem. E depois, o rendimento que isto dá é quase nulo. Não, é absolutamente impossível pensar em ficar aqui depois de casar. Absolutamente!
- Está bem, mas eu também não estava a pensar em ficar cá - respondeu ele.
- Óptimo, era isso mesmo que eu pretendia saber. E então a Nellie? Sendo assim, quanto tempo irá ela ficar aqui comigo?
Os dois antagonistas enfrentaram-se, olhos nos olhos.
- Isso já não lhe sei dizer - respondeu ele.
- Ora, vamos, deixe-se disso! - exclamou ela, desdenhosa e petulante. - Tem de ter uma ideia daquilo que pretende fazer, já que pediu uma mulher em casamento. A não ser que seja tudo conversa fiada.
- Conversa fiada? Porque havia de ser conversa fiada?... Penso voltar para o Canadá.
- E vai levá-la consigo?
- Evidentemente.
- Estás a ouvir isto, Nellie? - disse então Banford.
March, até aí de cabeça baixa sobre a costura, ergueu então o rosto, um acentuado rubor róseo nas faces pálidas, um riso estranho, sardónico, nos olhos negros, na boca franzida.
- E a primeira vez que ouço dizer que vou para o Canadá - disse.
- Bem, alguma vez tinha de ser a primeira, não é assim? - volveu o rapaz.
- Sim, suponho que sim - respondeu ela em tom de desprendido. E voltou à sua costura.
- Estás mesmo disosta a ir para o Canadá, Nellie? Achas que sim? - perguntou Banford.
March voltou a erguer os olhos.
E deixando descair os ombros, abandonando a mão no regaço, de agulha entre os dedos, respondeu:
- Depende do modo como tiver de ir. Não me parece que queira ir apertada numa terceira classe, como simples mulher de um soldado. - E acrescentou: - Receio não estar habituada a tais coisas.
O rapaz fitou-a de olhos brilhantes.
- Prefere então ficar por aqui enquanto eu vou à frente ver como correm as coisas? - inquiriu.
- Sim, se não houver outra alternativa - replicou ela.
- Assim é que é ter juízo. Não tomes qualquer compromisso definitivo, olha que é bem melhor - disse Banford. - Mantém-te livre para responderes sim ou não depois de ele ter voltado a dizer que já arranjou onde ficarem, Nellie. Qualquer outra atitude é uma loucura, uma loucura.
- Mas não acha - disse o jovem - que nos devíamos casar antes de eu partir?
Depois, conforme o caso, iriamos então juntos ou um primeiro e o outro depois.
- Acho que isso é uma péssima ideia! - exclamou Banford num grito.
Ela olhou em frente, os olhos errando, abstractos, pela sala.
- Bem, não sei - respondeu. - Vou ter de pensar nisso.
- Porquê? - pergroveitando a oportunidade para a fazer falar.
- Porquê? - repetiu ela. Repetira a pergunta em tom trocista, e, apesar do leve rubor que voltara a subir-lhe às faces, olhava para ele com um sorrido nos lábios. - Acho que há muitas e boas razoes para isso.
Ele observava-a em silencio. Sentiu que ela lhe escapava, que se conluiara com Banford contra ele. Lá estava de novo aquela estranha expressão, aqueles olhos sardónicos... E sabia que ela riria, trocista, de tudo aquilo que ele dissesse deste mundo de todo o género de vida que ele lhe oferecesse.
- É claro - disse então ele - que não tenciono obrigá-la a fazer nada contra vontade.
- Espero bem que não, ora essa! - exclamou Banford em ar indignado.
À hora de se irem deitar, Banford disse a March, na sua voz lamurienta:
- Levas-me a botija de água quente para cima, Nellie? Fazes-me esse favor?
- Sim, claro que sim - respondeu March, com aquela espécie de contrariada condescenda que tantas vezes revelava para com a sua querida e volúvel Jill.
As duas mulheres subiram então as escadas. Passado algum tempo, March disse lá de cima:
- Boa noite, Henry. Já não devo ir aí abaixo. Não se esqueça depois de apagar a luz e de tratar da lareira, está bem?
No outro dia, Henry apareceu de semblante carregado, um ar fechado no jovem rosto sombrio, dir-se-ia quase um menino amuado. Passou o tempo a cogitar, remoendo pensamentos sobre pensamentos. Teria gostado que March casasse com ele e o acompanhasse de volta ao Canadá. E, pelo menos até ali, sempre se convencera de que ela assim faria. Porque a queria, isso não sabia. Mas sabia que a queria. Desejava-a com um tal ardor que todo ele se contorcia de raiva ao saber-se contrariado. Na sua fúria juvenil, era para ele insuportável que o pudessem contrariar. Mas tinham--no contrariado... E isso era-lhe insuportável, absolutamente insuportável! Sentia-se possuído de uma tal fúria interior que nem sabia o que fazer. Mas optou por controlar-se, por refrear a sua raiva. Pois, apesar de tudo, as coisas ainda podiam vir a alterar-se. Ela ainda podia voltar para ele. E claro que sim. Tinha o dever de o fazer, era a sua obrigação. E tinha todo o direito, nada a podia impedir.
Lá para a tarde, o ambiente voltou a tornar--se bastante tenso. Ele e Banford tinham-se evitado durante todo o dia. De facto, Banford fora até à cidadezinha próxima no comboio das 11 e 20, pois era dia de mercado, devendo depois regressar no das 16 e 25. Quase ao cair da noite, Henry viu a sua figurinha esguia, vestida com um casaco azul-escuro e uma boina larga da mesma cor, a atravessar o prado vindo da estação. Deixou-se ficar onde estava, imóvel debaixo de uma pereira brava, a terra a seus pés juncada de folhas velhas e secas. E quedou-se a observar aquela figurinha azul que avançava tenazmente pelo prado inverniço, íngreme e escabroso. Tinha os braços cheios de embrulhos, pelo que avançava com grande lentidão, pequena e frágil como era, mas com aquela ponta de diabólica determinação que ele tanto detestava nela. Continuava oculto na sombra da pereira, quase invisível debaixo desta. E se os olhares pudessem tornar desejos em realidades, ela ver-se-ia tolhida por duas enormes grilhetas de ferro, rodeando-lhe os tornozelos à medida que avançava. "Não passas de um estuporzinho, essa é que é essa", murmurava ele entredentes através da distância. "Um estuporzinho, um reles estuporzinho. Espero que ainda venhas a pagar por todo o mal que me fizeste sem motivo algum. Espero bem que sim, meu grande estuporzinho. Espero que o venhas a pagar, e a pagar caro. E hás-de pagar, podes crer, se os desejos ainda têm algum valor. Meu estuporzinho, não passas de um estuporzinho asqueroso, é o que é."
Ela avançava com grande dificuldade, subindo lentamente a ladeira. Mas mesmo que ela escorregasse a cada passo, rolando por ali abaixo até um qualquer abismo insondável, ele não mexeria um dedo para a ajudar a transportar os embrulhos. Ah! Lá ia March, calcando a terra com o seu passo largo, de calções e casaquinho cintado! Descendo a colina a grandes passadas, dando mesmo algumas curtas corridas de quando em vez, toda embalada na sua grande solicitude e desejo de ir em socorro da sua pequenina Banford. O rapaz observava-a, furioso, o coração a transbordar de raiva. Vê-la a saltar valas, a correr que nem uma doida por ali abaixo como se a casa estivesse a arder, tudo isso só para ir ao encontro daquele objectozinho negro que rastejava colina acima! Assim, Banford parou, à espera que ela lá chegasse. E March, uma vez lá, pegou em todos os embrulhos, excepto num ramo de crisântemos amarelos. Eis tudo quanto Banford carregava agora, um ramo de crisântemos amarelos!
"Sim, ficas muito bem assim, não há dúvida", murmurou ele baixinho na penumbra do entardecer. "Ficas muito bem assim, para aí feita parva agarrada a um ramo de flores, lá isso ficas! Se gostas assim tanto de flores, toda abraçada a elas como vens, faço-tas para o chá, está descansada. E volto a dar-tas ao pequeno-almoço, aí volto, volto! Vou passar a dar-te flores, só flores e nada mais."
E quedou-se a observar a marcha das duas mulheres. Podia agora ouvir-lhes as vozes. March, franca como sempre, pondo um leve tom de repreensão na ternura da voz, Banford falando baixinho, como que a murmurar, de forma algo vaga e abstracta. Eram, evidentemente, duas boas amigas. Não conseguiu distinguir aquilo que diziam enquanto não chegaram junto da vedação que delimitava o prado adjacente à casa. Uma vez lá chegadas, viu então March transpor a cancela no seu jeito varonil, segurando todos os embrulhos nos braços, enquanto a voz rabugenta de Banford soava no ar parado:
- Porque é que não me deixas ajudar-te a levar os embrulhos? - Havia na sua voz um estranho tom de queixume, embargando-lhe as palavras. Ouviu-se então a voz de March, firme e sonora, respondendo com negligência:
- Oh, eu cá me arranjo. Não te preocupes. Tu é que tens de recuperar as forças, cansada como vens.
- Sim, isso é muito bonito - retrucou Banford, agastada. - Tu estás sempre a dizer "Não te preocupes" e depois passas o tempo toda ofendida porque ninguém te dá atenção.
- Mas quando é que andei ofendida? - perguntou March.
- Sempre. Andas sempre ofendida. Por exemplo, agora estás ofendida comigo por eu não querer que aquele rapaz venha viver cá para a quinta.
- Isso não é verdade, não estou nada ofendida - replicou March.
- Estás, que eu bem sei que estás. Quando ele se for embora, vais andar toda amuada por causa disso, tenho a certeza.
- Ah, sim? - volveu March. - Bom, veremos.
- Sim, infelizmente eu bem sei que vai ser assim. E dói-me pensar como tu te deixaste apanhar com tanta facilidade. Não posso imaginar como te podes ter rebaixado a esse ponto.
- Eu não me rebaixei coisíssima nenhuma - respondeu March.
- Então não sei que nome lhe dás. Deixar um rapaz como aquele, tão insolente e descarado, fazer de ti uma parva. Realmente não sei que ideia fazes tu de ti. Ou julgas que ele vai ter algum respeito por ti depois de te ter apanhado? Palavra que não gostaria nada de te estar na pele se casares com ele, pois não vai ser nada fácil descalçar essa bota.
- E claro que não gostarias. Aliás, as minhas botas são demasiado grandes para ti, além de não terem metade da elegância das tuas - disse March com mal disfarçado sarcasmo, arrependendo-se de seguida.
- Sempre pensei que fosses muito mais orgulhosa, palavra que sim. Uma mulher tem de se impor, tem de se fazer valer, especialmente tratando-se de um fulano como aquele. Porquê?... Porque ele é demasiado atrevido, eis porquê. Até mesmo na forma como se nos impôs logo de início.
- Nós é que lhe pedimos para ficar - objectou March.
- Mas só depois de ele quase nos ter obrigado a isso. E ele é tão arrogante e autocon-vencido. Meu Deus, como ele me irrita! Deixa--me sempre os nervos em franja, de tão insolente e provocador. E é-me simplesmente impossível perceber como é que tu podes permitir que ele te trate de uma forma tão reles.
- Isso não é verdade, eu não deixo que ele me trate de uma forma reles - respondeu March. - Não te preocupes com isso, nunca ninguém me tratará de uma forma reles. Nem mesmo tu, fica sabendo. - Havia um certo calor na sua voz, misto de ternura e desafio.
- Pois é, eu já sabia que ia acabar por pagar as favas - disse Banford amargamente. - É sempre assim, sou sempre eu quem leva com as culpas. Tenho a impressão que o fazes de propósito para me magoar.
Avançavam agora em silêncio, subindo a ladeira íngreme e ervosa. Ultrapassado o cume, continuaram depois por entre as urzes e o tojo. Do outro lado da sebe atrás da qual se ocultava, o rapaz seguia-as a curta distância, perdido nas sombras do crepúsculo. De vez em quando, através da enorme sebe de velhos espinheiros, altos como árvores, ele entrevia as duas figuras escuras a treparem colina acima. Ao chegar ao cimo da ladeira, viu a casa envolta nas sombras do crepúsculo, com uma velha e grossa pereira quase encostada à empena mais próxima e uma pequenina luz amarelada tremulando nas janelinhas laterais da cozinha. Ouviu depois o ruído do trinco correndo no ferrolho e viu a porta da cozinha a abrir-se, banhada em luz, quando as duas mulheres entraram. Portanto, já estavam em casa.
E com que então era isso que pensavam dele! Ele era uma espécie de ouvinte por natureza, sempre à escuta, de ouvido pronto, portanto, nunca ficava surpreendido com o que quer que ouvisse. Aquilo que as pessoas pudessem dizer a seu respeito nunca o afectava, pois, pessoalmente, isso era-lhe indiferente. Só se sentia bastante surpreendido com o modo como as mulheres se tratavam uma à outra. E detestava Banford com um ódio feroz, ao mesmo tempo que voltava a sentir--se atraído por March. Mais uma vez, algo dentro de si o impelia irresistivelmente para ela. Sentia haver um elo entre eles, um vínculo secreto a uni-los, algo de tão íntimo e reservado que excluía quaisquer terceiros, fazendo com que eles se possuíssem secretamente um ao outro.
E voltou a acreditar que ela acabaria por aceitá-lo. O sangue subitamente inflamado, acreditou que ela concordaria em casar com ele a breve trecho, muito provavelmente pelo Natal. Sim, pois o Natal já não vinha longe. Aquilo que ele desejava, fosse qual fosse a sequência, era conseguir levá-la a um casamento apressado e à sua efectiva consumação. Então, quanto ao futuro, isso depois se veria. Aquilo que desejava era que tudo acontecesse de acordo com os seus planos. Assim, naquela noite, esperava que ela aceitasse ficar a sós com ele depois de Banford ter subido para se ir deitar. Desejava poder tocar as suas faces suaves, cremosas, o seu rosto estranho, assustado. Desejava olhar de perto os seus grandes olhos negros, ler-lhe o temor nas pupilas dilatadas. E desejava mesmo poder pousar-lhe a mão no peito, sentir-lhe os seios macios sob o casaco. Só de pensar nisso, o coração batia-lhe com mais força, pulsando rápido e descompassado, tão grande era o seu desejo de o fazer. Queria certificar-se de que por baixo daquele casaco havia mesmo uns seios de mulher, suaves e macios. Pois ela andava sempre com aquele casaco de fazenda castanha tão hermeticamente abotoado até ao pescoço!
E parecia-lhe a ele que aqueles suaves seios de mulher, andando sempre aferrolhados dentro daquele uniforme, tinham em si algo de perigoso, de secreto. Além do mais, tinha a impressão de que eles deveriam ser muito mais suaves e macios, muito mais belos e adoráveis, encerrados assim naquele casaco, do que o seriam os seios de Banford, ocultos por baixo das suas blusas finas e dos seus vestidos de gaze. Banford tinha certamente uns seios pequenos e rijos, de uma dureza férrea, pensava ele para consigo. Pois, apesar de toda a sua fragilidade, hipersensibilidade e delicadeza, os seus seios deveriam ser duas pequeninas bolas de ferro, ao passo que March, debaixo do seu casaco de trabalho, rijo e grosseiro, teria certamente uns seios brancos e macios, de uma alvura, de uma suavidade por desvendar. E, enquanto assim pensava, sentia o sangue ferver-lhe nas veias, correndo, esbraseado, em frenética galopada.
Quando por fim, chegada a hora do chá, se decidiu a entrar, esperava-o uma surpresa. Surgindo à entrada da porta, já do lado de dentro, os olhos azuis brilhando-lhe, luminosos, no rosto vermelho e vivo, a cabeça ligeiramente descaída para a frente como era seu hábito, deteve-se ao entrar, hesitando um pouco no limiar da porta para observar o interior da sala, atento e cauteloso como sempre, antes de avançar. Trazia vestido um colete de mangas compridas. O seu rosto, qual baga de azevinho, assemelhava-se extraordinariamente a um qualquer elemento exterior que, de repente, ali tivesse irrompido, como se parte do mundo de lá de fora penetrasse portas adentro como um intruso. Nos escassos segundos em que se quedou, hesitante, à entrada da porta, apercebendo-se das duas mulheres sentadas à mesa, cada uma em sua ponta, observando-as então com olhos agudos e penetrantes. E, para seu grande espanto, verificou que March estava com um vestido de crepe de seda verde-escuro. Ficou boquiaberto, tal foi a surpresa. Ele não ficaria mais surpreendido se ela porventura aparecesse subitamente de bigode.
- Mas então - disse ele - afinal também usa vestidos?
Ela ergueu os olhos, duas fundas manchas róseas nas faces ruborizadas, e, franzindo a boca num sorriso, respondeu:
- É claro que sim. Que outra coisa esperava que eu usasse senão um vestido?
- Bom, um traje de rapariga do campo, é evidente - retorquiu ele.
- Oh! -- exclamou ela num tom de indiferença. - Isso é só para este sujo e imundo trabalho cá da quinta.
- Então não é esse o seu traje vulgar? - indagou ele.
- Não, pelo menos para trazer por casa - volveu ela. Mas não deixou de corar enquanto lhe servia o chá. Ele sentou-se à mesa, puxando a sua cadeira do costume, totalmente incapaz de desviar os olhos daquela figura. O vestido era um vestido inteiro, muito simples, de crepe azul esverdeado, com uma tira dourada cosida à volta da gola e outra a debruar as mangas. Era um vestido de mangas curtas, não passando do cotovelo, de corte direito, muito sóbrio, com uma gola redonda que deixava ver o seu pescoço alvo e macio. Os braços, fortes e musculados, de músculos firmes e bem feitos, já ele conhecia, pois vira-a muitas vezes de mangas arregaçadas. Contudo, ele olhava-a como que hipnotizado, mirando-a e remirando-a da cabeça aos pés.
Banford, sentada na outra ponta da mesa, não dizia palavra, mas manifestava o seu nervosismo na forma ruidosa como virava e revirava a sardinha que tinha no prato. Mas ele esquecera-se totalmente da sua existência, quedando-se, embasbacado, a olhar para March enquanto ia comendo o seu pão com margarina a grandes dentadas, sem sequer ligar ao chá já quase frio.
- Bem, nunca vi nada que mudasse assim tanto uma pessoa! - murmurou entre duas dentadas.
- Oh, meu Deus! - exclamou March, cada vez mais ruborizada. - Devo estar com um ar de bicho do outro mundo!
E, levantando-se rapidamente, pegou no bule e levou-o para a cozinha, voltando a pôr a chaleira ao lume. E quando ela se debruçou sobre a lareira, agachando-se, com o seu vestido verde colado ao corpo, o rapaz contemplou-a com olhos ainda mais esbugalhados do que antes. Através do crepe, as suas formas de mulher pareciam agora suaves e femininas. Ao voltar a erguer-se, dando alguns passos na cozinha, ele viu-lhe as pernas gráceis movendo-se, suaves, sob a saia curta cortada à moda. Calçara umas meias de seda preta e uns sapatinhos de verniz com graciosas fivelas douradas.
Não, não podia ser a mesma pessoa. Estava mudada, parecia-lhe alguém totalmente diferente. Acostumado a vê-la sempre vestida com os seus pesados calções, largos e folgados nas ancas, apertados nos joelhos, maciços como uma couraça, com umas grevas castanhas e pesadas botas, nunca lhe ocorrera que ela tivesse pernas e pés de mulher. E, de repente, vendo-lhe as pernas finas moldadas pela saia, dava-se conta disso, apercebia-se do seu ar feminino, acessível. Sentindo-se corar até à raiz dos cabelos, enfiou o nariz na chávena e sorveu o chá algo ruidosamente, facto que fez com que Banford se remexesse toda na cadeira. E, de súbito, algo de estranho sucedeu: sentiu-se um homem, já não um jovem mas sim um homem, um homem adulto, maduro. Sentiu-se um homem com todo o peso das graves responsabilidades do homem adulto. E uma estranha calma, uma espécie de gravidade abateu-se sobre ele, invadindo-lhe o espírito, dominando-lhe a mente. Sentiu-se um homem, calmo e tranquilo, a alma algo opressa pelo peso do seu destino de macho.
Suave e acessível no seu vestido... Este pensamento dominou-o com a força avassaladora de uma nova responsabilidade, de uma responsabilidade para sempre presente.
- Oh, por amor de Deus! Digam alguma coisa, não estejam assim tão calados! - explodiu Banford, enervada e indisposta. - Isto mais parece um funeral. - O rapaz olhou então para ela. Incapaz de suportar aquele rosto, ela viu-se obrigada a desviar a cabeça.
- Um funeral! - exclamou March, crispando a boca num sorriso. - Oh, isso vai ao encontro do meu sonho!
Viera-lhe subitamente à ideia a visão de Banford jazendo na caixa de madeira por único caixão.
- Porquê, estiveste a sonhar com um casamento? - disse Banford, com ácido sarcasmo.
- Sim, se calhar estive - respondeu March.
- Qual casamento? - perguntou o rapaz.
- Já não me lembro - retorquiu March.
Estava tímida e pouco à vontade naquela tarde, pois, apesar de usar um vestido, tinha um comportamento muito mais comedido do que com o seu uniforme de trabalho. Sentia-se desprotegida e algo exposta, quase imprópria, obscena mesmo, para ali vestida daquela forma.
Falaram então muito por alto da partida de Henry, marcada para a manhã seguinte, conversando de forma vaga e desinteressada, posto o que foram tratar dos habituais preparativos. Mas nenhum ousou falar daquilo que realmente lhe ia no espírito, mostrando-se bastante calmos e amigáveis durante toda a tarde. Banford praticamente não abriu a boca, apesar de lá por dentro se sentir tranquila, quase amável até.
Às nove horas, March trouxe o tabuleiro com o sempiterno chá e um pouco de carnes frias que Banford lá conseguira arranjar. Sendo esta a última ceia, Banford procurava não ser desagradável. Até sentia uma certa pena do rapaz, achando-se na obrigação de ser tão gentil quanto possível.
Quanto a ele, o seu maior desejo era que ela se fosse deitar, no que, por via de regra, era sempre a primeira. Mas ela deixou-se ficar sentada na cadeira, sob a luz do candeeiro, relanceando os olhos pelo livro de quando em vez e vigiando o lume. Pairava agora na sala uma profunda quietude. Então, em voz um tanto abafada March decidiu-se a quebrar o silêncio, perguntando a Banford:
- Que horas são, Jill?
- Dez e cinco - respondeu esta, olhando o relógio de pulso.
Depois, nada mais. De novo o silêncio. O rapaz erguera os olhos do livro preso entre os joelhos. Tinha no rosto largo e algo felino um ar de muda obstinação, nos olhos atentos e vivos a insistência da espera.
- E que tal ir para a cama? - disse finalmente March.
- Quando quiseres, estou pronta - volveu Banford.
- Oh, muito bem - disse March. - Vou arranjar-te a botija.
E assim fez. Uma vez preparada a botija de água quente, acendeu uma vela e levou a botija para cima. Banford deixou-se estar sentada, atenta ao menor ruído. Depois, reaparecendo ao cimo das escadas, March voltou a descer.
- Pronto, já está - disse então. - Não vais para cima?
- Sim, é só um minuto - respondeu Banford. Mas os minutos foram passando e ela continuou sentada na cadeira sob a luz do candeeiro.
Henry, cujos olhos, espreitando, observadores, de sob as sobrancelhas, brilhavam como os de um gato, o rosto parecendo cada vez mais largo e arredondado nos seus contornos felinos, na sua inalterada obstinação, ergueu--se então a fim de tentar a sua cartada.
- Acho que vou até lá fora ver se descubro a fêmea daquele raposo - disse. - Pode ser que ande por aí a rondar. Não quer vir também, Nellie, a ver se vemos alguma coisa? É só um minuto...
- Eu?! - exclamou March, erguendo os olhos para ele, um ar simultaneamente perplexo e interrogativo no rosto surpreso.
- Sim, você. Venha daí, vá... - insistiu ele. Era espantoso como a sua voz podia parecer tão quente, tão persuasiva, como podia tornar-se tão suave e insinuante. Ao ouvi-la, Banford sentiu o sangue ferver-lhe, o eco daquele som escaldando-lhe as veias.
- Venha, é só um minuto - teimou ele, baixando os olhos para ela, para aquele rosto erguido, pálido e inseguro.
E então, como que atraída pela força magnética daquele rosto jovem e corado que a olhava com insistente fixidez, ela acabou por se pôr de pé.
- Nunca pensei que alguma vez te atrevesses a sair a esta hora da noite, Nellie! - gritou Banford.
- Não faz mal, é só por um minuto - disse o rapaz, voltando os olhos para ela e falan-do-lhe num estranho tom de voz, quase que num uivo, agudo e sibilante.
March olhava ora para um ora para outro, parecendo abstracta e confusa. Banford levantou-se então por sua vez, preparando-se para a luta.
- Ora esta, mas isso é ridículo! Está um frio de rachar! Tu ainda acabas por morrer gelada com esse vestido tão fino. E ainda por cima com esses sapatecos que não aquecem nada. Não te admito que faças uma coisa dessas, ouviste?
Houve uma pequena pausa. Banford, toda encrespada, mais parecia um galo de briga, fazendo frente a March e ao rapaz.
- Oh, não acho que tenha de se preocupar - retorquiu ele. - Uns instantes ao relento nunca fizeram mal a ninguém. Vou buscar a manta que está em cima do sofá da sala de jantar. Vamos andando, Nellie?
Havia na sua voz tanta raiva, desprezo e fúria quando falava com Banford quanto de ternura e orgulhosa autoridade ao dirigir-se a March. Então esta disse:
- Sim, vamos andando.
E, virando costas, dirigiu-se com ele para a porta.
Banford, de pé no meio da sala, irrompeu de súbito em grande pranto, gritando e soluçando convulsivamente, o corpo sacudido por espasmos. Cobrindo o rosto com as suas pobres mãos, finas e delicadas, os ombros magros agitados por um tremor agónico, chorava desabaladamente. Já a chegar à porta, March olhou então para trás.
- Jill! - gritou ela fora de si, num tom desvairado, como alguém que desperta de repente. E deu a impressão de querer correr para junto da sua querida amiga.
Mas o rapaz tinha o braço de March bem sujeito sob a sua mão jovem e forte, pelo que ela não pôde dar um passo. E não sabia porque é que lhe era impossível mover-se. Tudo se passava como num sonho, quando o coração tenta empurrar o corpo para diante mas este é incapaz de se mover.
- Deixa estar - disse o rapaz com brandura. - Deixa-a chorar. Deixa-a chorar que é melhor. Mais tarde ou mais cedo, teria sempre de acabar por chorar. E as lágrimas ajudá-la--ão, aliviar-lhe-ão os sofrimentos. Só lhe podem fazer bem, podes crer.
Assim, arrastou March lentamente até à porta, obrigando-a a avançar. Mas não pôde impedi-la de lançar um último olhar para a pobre figurinha que ali ficava, de pé, no meio do quarto, o rosto entre as mãos, os ombros magros sacudidos por espasmos, chorando amargamente.
Ao chegarem à sala de jantar, ele agarrou na manta e disse-lhe:
- Vá, embrulha-te nisto.
Ela obedeceu e continuaram a avançar até atingirem a porta da cozinha, com ele sempre a segurá-la pelo braço, com ternura e firmeza, ainda que ele nem sequer se desse conta disso. Mas, ao ver a noite lá fora, teve um súbito movimento de recuo.
- Eu tenho de ir ter com a Jill! - exclamou, então. - Tenho, tenho! Tenho, sim, tenho!
O seu tom era peremptório. O rapaz soltou--lhe então o braço e ela voltou-se para dentro. Mas, voltando a agarrá-la, ele impediu-a de avançar.
- Espera um minuto - disse. - Espera um minuto. Mesmo que tenhas de ir, não vás ainda.
- Deixa-me! Deixa-me! - gritou ela. - O meu lugar é ao lado da Jill! Pobre pequenina, pobre querida, os seus soluços são de cortar o coração!
- Sim - disse o rapaz amargamente. - Cortam o coração, isso é verdade. O dela, o teu e também o meu.
- O teu coração? - perguntou March. Ele continuava a segurá-la pelo braço, impedindo-a de avançar.
- Sim, ou será que o meu coração não vale o dela? - respondeu ele. - Achas que não, é?
- O teu coração? - repetiu ela, incrédula.
- Sim, o meu, o meu coração! Ou julgas que não tenho coração? - E, agarrando-lhe a mão com fervor, num caloroso amplexo, comprimiu-a de encontro ao peito, levando-a até ao lado esquerdo. - Aí tens o meu coração - disse -, já que pareces não acreditar nele.
Foi o espanto que a fez ficar, prendendo-a ali. E sentiu então o poderoso bater do coração dele, forte e profundo, tão terrível como algo vindo do além. Sim, assemelhava-se a algo vindo dos abismos do além, a algo de medonho saído do outro mundo, a algo que a chamava, que a atraía irremediavelmente. E um tal apelo paralisou-a, invadindo-lhe o espírito, ecoando-lhe na alma, deixando-a fraca e indefesa. De imediato, esqueceu Jill. Pensar em Jill era-lhe doravante impossível. Não, não podia pensar nela. Sentia-se tão aturdida, tão confusa... Oh, aquele terrível apelo do exterior, aquele apelo do além!...
O rapaz enlaçou-a pela cintura, puxando-a ternamente para si.
- Vem comigo - disse com extrema suavidade. - Vem... Deixa que digamos um ao outro aquilo que temos para dizer.
E, arrastando-a para fora, fechou a porta atrás de si. Ela acompanhou-o então através da escuridão, seguindo pelo caminho do quintal, totalmente dominada pelo seu fascínio, pelo seu mistério. Logo havia ele de ter um coração que pulsasse daquela maneira! E logo havia de lhe ter posto a mão à volta da cintura, ainda por cima por debaixo da manta! Sentia-se demasiado confusa para pensar em quem ele era ou no que ele era.
Ele levou-a para dentro do barracão, puxando-a para um canto escuro onde havia um caixote de ferramentas com uma tampa, comprido e baixo.
- Sentemo-nos aqui um instante - disse então ele.
Obedientemente, ela sentou-se a seu lado.
- Dá-me a tua mão - continuou ele.
Ela deu-lhe ambas as mãos e ele tomou-as entre as suas. Jovem como era, sentiu-se estremecer.
- Casas comigo, não casas? Casas comigo antes de eu partir, não é verdade? - rogou ele.
- Porque não? Ao fim e ao cabo, não somos ambos um par de loucos? - respondeu ela.
Ele levara-a para aquele canto a fim de que ela não visse a janela iluminada sempre que olhasse para a casa através da escuridão do pátio e do quintal. Procurava mantê-la totalmente desligada do exterior, sozinha com ele ali dentro do barracão.
- Mas em que sentido é que somos um par de loucos? - perguntou ele. - Se quiseres voltar comigo para o Canadá, tenho um emprego e um bom salário à minha espera, além de que é um lugar calmo e agradável, perto das montanhas. E porque não casarás tu comigo? Sim, porque não havemos nós de nos casar? Gostaria muito de te ter lá comigo. Gostaria de saber que tinha alguém, alguém com quem me preocupar, alguém com quem pudesse viver o resto da minha vida.
- Mas ser-te-á fácil arranjar outra, outra que te convenha mais - objectou ela.
- Sim, isso é verdade, ser-me-ia fácil arranjar outra rapariga. Eu sei que sim. Mas nenhuma que eu realmente desejasse. Nunca encontrei nenhuma com quem realmente desejasse viver para sempre. Estás a ver, estou a pensar numa união para toda a vida. Se me casar, quero sentir que isso será para toda a vida. Quanto às outras raparigas... Bom, são apenas raparigas, boas para conversar e passear uma vez por outra, nada mais. Digamos, boas para passar um bom bocado, uns momentos de prazer. Mas quando penso na minha vida, então tenho a certeza de que ficaria bastante arrependida se tivesse de me casar com qualquer delas, disso não tenho dúvidas.
- Queres dizer que elas não dariam uma boa esposa?
- Sim, é isso. Ou antes, não é bem isso... Não digo que não cumprissem com seus deveres para comigo, o que eu quero dizer é que... Bom, a verdade é que não sei o que quero dizer. Só sei que, quando penso na minha vida e em ti, então as duas coisas combinam perfeitamente.
- E se não combinassem? - perguntou ela naquele seu tom estranho, algo sarcástico.
- Bem, eu acho que combinam. Deixaram-se então ficar calados durante algum tempo, ali sentados nas trevas do barracão. Desde que se apercebera de que ela era uma mulher, vulnerável e acessível, sentira-se tomado de uma estranha sensação, o espírito opresso e pesado. Não tinha a menor intenção de a possuir, antes pelo contrário. Estremecia à ideia de uma tal proeza, quase que amedrontado. Ela era uma mulher, finalmente vulnerável e acessível ao seu assédio, mas ele evitava antecipar aquilo que o futuro lhe poderia trazer, quase como se isso o apavorasse. Pois este surgia-lhe à semelhança de uma zona de trevas onde sabia que teria de entrar um dia, mas na qual, pelo menos para já, nem sequer queria pensar. Até porque ela era mulher e ele sentia-se responsável pela estranha vulnerabilidade que subitamente descobrira nela.
- Não - disse ela por fim. - Sou uma idiota, é o que é. Disso não restam dúvidas, sou mesmo uma idiota.
- Mas porquê? - perguntou ele.
- Por aceitar continuar com uma conversa destas.
- Referes-te a mim, é isso? - indagou ele.
- Não, refiro-me a mim. Aquilo que estou a fazer é uma asneira, uma rematada asneira.
- Mas porquê? Será porque realmente não queres casar comigo?
- Oh, não é isso. E que, na verdade, não sei se sou contra ou a favor de uma tal ideia, só isso. Não sei, realmente, não sei.
Ele olhou-a através das trevas, perplexo e confuso. Não fazia a menor ideia do que ela pretendia dizer com aquilo.
- E também não sabes se gostas ou não de estar agora aqui sentada ao pé de mim? - perguntou então.
- Não, realmente não sei. Não sei se gostaria de estar noutro lado ou se prefiro estar aqui. Não sei, realmente não sei.
- Gostarias de estar ao pé de Miss Banford? Gostarias de ir para a cama com ela, é isso? - perguntou ele, em tom de desafio.
Ela quedou-se longo tempo silenciosa antes de responder.
- Não - disse por fim. - Não gostaria.
- E achas que gostarias de passar toda a vida ao pé dela? De ficar com ela até estares velha e de cabelos brancos? - continuou ele.
- Não - respondeu ela sem grandes hesitações. - Não me estou a imaginar a mim e à Jill, duas velhas, a vivermos juntas.
- E não achas que quando eu for velho e tu também já fores velha poderemos ainda estar juntos, juntos como agora estamos? - perguntou então ele.
- Bom, não como agora estamos - volveu ela. - Mas acho que posso imaginar... Não, não posso. Não consigo imaginar-te velho. Além de que isso é horrível!
- O quê, ser velho?
- Sim, é claro.
- Não na devida altura - retorquiu ele. - Mas isso ainda vem longe. Há-de chegar, é claro, mas quando chegar gostaria de pensar que também tu lá estarás, que teremos envelhecido os dois juntos.
- Como dois velhos aposentados num asilo de terceira idade - disse então ela secamente.
Aquela espécie de humor disparatado que ela tinha deixava-o sempre espantado. Nunca percebia muito bem aquilo que ela queria dizer. Provavelmente, nem ela mesma o sabia.
- Não - respondeu ele, chocado.
- Não percebo porque estás para aí a repisar isso da velhice - disse ela então. - Ainda não tenho noventa anos, que eu saiba.
- E alguém disse que os tinhas, por acaso? - replicou ele, ofendido.
Virando a cara, ficaram então calados por algum tempo, entregues aos seus pensamentos.
- Não gosto que faças pouco de mim - disse então ele.
- Ah, não? - volveu ela, num tom enigmático.
- Não, porque neste momento eu estou a falar a sério. E quando estou a falar a sério não gosto de brincadeiras.
- Queres dizer que ninguém deve fazer troça de ti - retorquiu ela.
- Sim, é isso. E também significa que eu próprio não estou disposto a brincar. Quando me acontece estar sério é assim, não gosto de brincadeiras ou de troças.
Ela ficou silenciosa por alguns instantes.
Depois, numa voz vaga, abstracta, algo dolorida mesmo, disse então:
- Não, não estou a fazer pouco de ti.
Ele sentiu-se como que tomado por uma onda de calor, o coração pulsando-lhe rápido e quente.
- Então acreditas em mim, não é verdade? - perguntou.
- Sim, acredito em ti - replicou ela, numa voz onde ressaltava algo do seu velho cansaço, da sua habitual indiferença, como se só cedesse por já estar cansada e farta. Mas ele não se importou, só dando ouvidos ao entusiasmo que lhe ia no coração, inflamado e jubiloso.
- Concordas então em casar comigo antes de eu partir, digamos, lá pelo Natal? Concordas?...
- Sim, concordo.
- Óptimo! - exclamou ele. - Então está combinado.
E deixou-se estar sentado em silêncio, quase que inconsciente, o sangue fervendo-lhe nas veias, correndo, escaldante, num estontea-mento de vertigem, pulsando, frenético, num formigar alucinado, todas as suas fibras em fogo, nervos, dobras, circunvoluções. Limitou-se tão-só a apertar-lhe ainda mais as mãos de encontro ao peito, quase sem dar por isso. Quando esta curiosa paixão começou, finalmente, a acalmar, pareceu então despertar para o mundo.
- Seria melhor irmos andando, não achas? - perguntou, como se só então desse conta do frio que estava.
Ela levantou-se sem dizer palavra.
- Beija-me antes de irmos para dentro, agora que disseste que sim - pediu ele.
E beijou-a suavemente na boca com um beijo tímido e rápido, um beijo de jovem assustado. E este fê-la também sentir-se mais jovem, deixando-a assustada e maravilhada ao mesmo tempo, algo cansada também, muito, muito cansada, quase como se se sentisse prestes a adormecer.
Foram então para dentro. E lá estava Ban-ford na sala de estar, agachada junto ao fogo como se fosse uma bruxa, uma estranha bruxinha pequena e mirrada. Ao entrarem, ela olhou em volta com uns olhos avermelhados, mas não se levantou. E ele pensou que ela tinha um ar assustador, sobrenatural, para ali demoníaco, fez uma figa com os dedos.
Banford reparou no rosto corado e jubiloso do jovem, parecendo-lhe que ele estava estranhamente alto, com um ar luminoso, inebriado. E no rosto de March havia uma curiosa expressão, delicada, suave, quase como que um halo, diáfano e leve. Porém, ela desejava poder ocultá-lo, encobri-lo, não deixar que ninguém o visse.
- Até que enfim que chegaram - disse Banford com rudeza.
- Sim, já chegamos - respondeu ele.
- Por algum motivo se demoraram tanto - volveu ela.
- Sim, lá isso é verdade. Já ficou tudo combinado. Vamos casar o mais depressa possível - replicou ele.
- Oh, com que então já está tudo combinado, hem!... Bem, espero que não venham depois a arrepender-se - disse Banford.
- Assim espero - retorquiu ele.
- Vais agora para a cama, Nellie? - perguntou então Banford.
- Sim, vou já.
- Então, por amor de Deus, vem daí! March olhou para o rapaz. Ele observou-a E ela a Banford, os olhos muito vivos e brilhantes no rosto radioso. March deitou-lhe um olhar ansioso, significativo. Gostaria de poder ficar ao pé dele. Gostaria de já se ter casado com ele, de que tudo já fosse um facto consumado. Pois sentia-se subitamente tão segura ao lado dele!... Oh, tão, tão segura!... Sentia-se tão estranhamente segura na sua presença, tão calma, tão tranquila!... Se ao menos pudesse dormir sob a sua protecção, se não tivesse de ir para cima com Jill... Sentia-se agora com medo de Jill. Naquele seu estado de semi-inconsciência, de terna lassidão e abandono, era para si uma agonia ter de subir com Jill, de se ir deitar com ela. E desejava que o rapaz a salvasse. Voltou então a olhá-lo, quase suplicante.
E ele, fitando-a com os seus olhos brilhantes, pareceu adivinhar algo do que lhe ia no espírito. Sentiu-se então angustiado e confuso por ela ter de ir com Jill.
- Não me vou esquecer do que me prometeste - disse, olhando-a bem nos olhos, mergulhando fundo dentro daqueles olhos tristes, assustados, de tal modo que dava a impressão de a abarcar por inteiro, de a envolver de corpo e alma no seu estranho olhar cintilante.
Então, ela sorriu-lhe, um ar lânguido e terno no rosto agora calmo. Voltava a sentir-se segura, segura com ele.
Mas, apesar de todas as precauções do rapaz, veio a deparar-se-lhe um sério revés. Na manhã da sua partida da quinta, convenceu March a acompanhá-lo até à cidade mais próxima, a cerca de oito milhas1 dali, em cujo mercado elas se costumavam abastecer. Uma vez aí, foram ao registo civil tratar dos banhos, declarando que desejavam casar-se. Ele estaria de volta por ocasião do Natal, pelo que o casamento deveria realizar-se por essa altura. Lá pela Primavera, esperava já poder levar March consigo para o Canadá, uma vez que a guerra tinha acabado de vez. Ainda que muito jovem, pusera já algum dinheiro de parte.
- Se possível, deve-se ter sempre algum dinheiro de reserva - declarou ele então.
Assim, ela viu-o partir no comboio que ia para oeste, pois o seu aquartelamento ficava na planície de Salisbury. Viu-o partir com os seus grandes olhos negros muito abertos, tendo a sensação de que, à medida que o comboio se afastava, parte da realidade da vida se afastava com ele, realidade representada por aquele rosto estranho, corado e bochechudo, por aquelas faces largas, por aquela expressão sempre imutada, excepto quando ensombrada pela fúria, pela ira dos sobrolhos carregados, pelos olhos extáticos, vivos e brilhantes, obsessivamente fixos numa estranha imobilidade. Era isto que agora acontecia. Debruçado da janela da carruagem enquanto o comboio se punha em andamento, lá estava ele a dizer--lhe adeus e a fitá-la de olhos fixos, uma expressão inalterada no rosto parado, nos músculos imóveis. Não havia qualquer emoção naquele rosto estático. Apenas os olhos se estreitaram num olhar fixo, intencional, quase como os de um gato ao deparar subitamente com algo que o faz estancar. Assim, os olhos do rapaz quedaram-se fixos e extáticos enquanto o comboio se afastava, deixando-a para trás com uma intensa sensação de solidão e abandono. Na falta da sua presença física, parecia-lhe que já nada restava dele, que ficava absolutamente vazia, sem nada de nada. Tão-só o seu rosto lhe ficara gravado na memória: as faces cheias, coradas, a expressão imutável, estática, o nariz comprido e rectilíneo, os olhos fixos que o encimavam. Tudo aquilo de que se lembrava era do modo como ele ria, franzindo cómica e subitamente o nariz, tal como um cachorrinho quando se põe a rosnar na brincadeira. Mas dele, de si próprio e daquilo que ele era, nada sabia, pois nada ficara dele no momento em que a deixou.
Nove dias depois de ter partido, eis que ele recebe a seguinte carta:
"CARO HENRY:
Tenho pensado muito no assunto, recapitulando tudo vezes sem conta, e parece-me agora que não há futuro para nós os dois, que é perfeitamente impossível pensarmos em ir por diante com uma tal aventura. Quando cá não estás é que vejo como fui uma louca. Enquanto te tenho ao pé, como que me deixas cega para a realidade das coisas. Fazes-me ver tudo de forma tão irreal que perco a noção das proporções, fico aturdida e confusa. Mas quando volto a ficar a sós com Jill, parece que recupero então o meu senso comum e me apercebo da grande asneira que estou a fazer e do modo injusto como te tenho tratado. Porque é tremendamente injusto para ti eu aceitar ir por diante com este romance quando, lá bem no fundo do meu coração, não consigo sentir por ti um verdadeiro amor. Bem sei que há muita gente que diz uma série de tolices e absurdos sobre o amor, mas eu não quero cair nisso. Quero, isso sim, ater-me aos factos concretos e agir com calma e sensatez. E é isso que me parece que não estou a fazer, já que não vejo por que razão irei eu casar contigo. Pois eu sei que não estou loucamente apaixonada por ti, como sempre imaginei que me iria suceder com os rapazes quando não passava ainda de uma jovem tonta, de uma rapariguinha com a cabeça cheia de fantasias. Tu és-me totalmente estranho, continuas a ser um estranho para mim e creio bem que nunca deixarás de o ser. Assim sendo, por que motivo casaria eu contigo? Quando penso na Jill, constato que ela está infinitamente mais próxima de mim. Conheço-a e tenho-lhe um grande amor, odiando-me a mim mesma como a uma besta sem coração se porventura a magoo infimamente que seja. Vivemos a nossa vida juntas e, mesmo que isso não possa durar para sempre, bem, enquanto durar sempre é uma vida, a nossa vida. E esta poderá durar enquanto ambas vivermos. Pois quem poderá saber quanto tempo iremos ainda viver? Ela é um pequenino ser, frágil e delicado, e talvez ninguém saiba bem como eu quão delicada ela é. Quanto a mim, sinto que posso muito bem cair da tripeça um dia destes. De ti é que eu sei nada, és-me totalmente desconhecido. E quando penso naquilo que tenho sido, no modo como tenho agido para contigo, então começo a recear ter alguns parafusos a menos. Custa-me pensar que uma tal senilidade mental se esteja a revelar tão precocemente, mas é isso que me parece estar a acontecer. Pois tu és-me de tal modo estranho, de tal modo diverso daquilo a que estou habituada, que não me parece que tenhamos nada em comum. E quanto a amor, a própria palavra me soa a falso, me parece absurda e impossível. Sei qual o significado do amor, até mesmo no caso da Jill, e por isso acho que no que nos diz respeito ele é uma impossibilidade absoluta. E depois mais isso de ir para o Canadá. Estou certa de que devia estar maluca de todo quando te prometi uma coisa dessas. E isso deixa-me profundamente assustada comigo mesma. Sinto que poderia muito bem vir a fazer uma loucura, a praticar qualquer acto realmente louco, de que não fosse responsável, e a ter de acabar os meus dias num manicômio. Es capaz de achar que já estou pronta para isso, tendo em conta o caminho que tenho vindo a trilhar, mas isso também não é lá muito lisonjeiro para mim. Graças a Deus que tenho aqui a Jill, pois a sua simples presença basta para me devolver o juízo. Caso contrário, não sei aquilo que faria. Poderia muito bem vir a ter um acidente com a espingarda uma noite destas. Amo a Jill e ela faz-me sentir calma e segura, restituindo-me a sanidade com as suas ternas reprimendas, com as suas amorosas zangas por eu ser tão doida e estouvada. Bom, mas aquilo que eu quero dizer é só isto: não achas melhor tentarmos esquecer tudo isto? Não posso casar contigo, pois é-me realmente impossível fazê-lo se acho isso errado. Foi tudo um grande erro, nada mais. Portei-me como uma doida varrida e tudo o que posso agora fazer é pedir-te desculpa. Por favor, peço-te que me esqueças e que não me voltes a procurar. A tua pele de raposo está quase pronta e parece-me de grande qualidade. Mandar-ta-ei pelo correio caso tenhas a amabilidade de me dizer se o teu endereço continua a ser este. Só te peço que aceites mais uma vez as minhas desculpas pela forma horrorosa e irresponsável como me comportei para contigo e que tentes esquecer o assunto.
A Jill manda-te os seus melhores cumprimentos. Os pais dela estão cá, vieram passar o Natal connosco.
Atenciosamente ELLEN MARCH."
O rapaz leu a carta no aquartelamento enquanto estava a limpar a sua mochila de apetrechos. Cerrando os dentes, ficou muito pálido por instantes, uma aura amarelada em torno dos olhos furiosos. Mas não disse palavra, deixando de ver e sentir fosse o que fosse, unicamente tomado de uma raiva surda, irracional, de uma fúria cega, quase demente. Derrotado! Derrotado mais uma vez! Frustrado! Falhado! E ele queria a mulher, ela enraizara-se-lhe na mente com a força obsessiva de um destino a cumprir, de uma sentença a executar. Possuir essa mulher era a sua perdição, o seu destino, a sua recompensa. Ela era para ele o céu e o inferno na terra, aquilo que não mais voltaria a encontrar. Cego de raiva e de fúria contida, assim passou a manhã. E se não estivesse tão ocupado a dar voltas à cabeça, magicando uma saída, planeando as mais diversas soluções, teria acabado por cometer uma loucura qualquer. Lá bem no fundo, sentia uma enorme vontade de gritar, de berrar, de ranger os dentes, de partir tudo à sua volta. Mas era demasiado inteligente para isso. Sabia que tinha de respeitar as normas sociais, que tinha de se refrear, pelo que não foi além do remoer de vinganças, do congeminar de planos, do matraquear de ideias e soluções. Assim, com os dentes cerrados e o nariz um tudo nada alçado, dando-lhe um ar extremamente curioso, qual estranha criatura demoníaca, os olhos fixos e extáticos, entregou-se aos trabalhos matinais meio ébrio de fúria e frustração mal contidas. Um só nome lhe dominava a mente: Banford. Não deu qualquer atenção ao efusivo palavreado de March, pois isso para ele não tinha importância absolutamente nenhuma. Mas, cravado na mente, havia um espinho que o torturava, dilacerante, profundo: Banford. Envenenando-lhe a mente, a alma, todo o seu ser, havia um espinho que o torturava, que o enlouquecia: Banford. E ele tinha de o arrancar. Tinha de arrancar aquele espinho da sua vida, tinha de arrancar aquele espinho que Banford encarnava, tinha de o fazer nem que morresse.
A mente obcecada por esta ideia fixa, decidiu ir pedir uma licença de vinte e quatro horas. Sabia que não tinha direito a ela, mas, possuído naquele dia de uma percepção particularmente aguda, de uma lucidez quase sobrenatural, soube de imediato onde devia dirigir-se: devia ir ter com o capitão. Mas como havia ele de descobrir o capitão? Naquele enorme aquartelamento, cheio de tendas e de barracões de madeira, não tinha a menor ideia de onde podia estar o seu capitão.
Porém, foi directo à cantina dos oficiais. E lá estava o seu capitão, de pé, a falar com três outros oficiais. Henry ficou à porta, em rígida posição de sentido.
- Posso falar com o capitão Berryman? - perguntou. Tal como ele, o capitão era natural da Cornualha.
- O que é que queres? - disse o capitão.
- Posso falar consigo, meu capitão?
- O que é que queres? - voltou a dizer o capitão, sem se mexer de onde estava, imóvel junto ao grupo dos seus camaradas.
Henry olhou o seu superior por alguns instantes sem dizer palavra.
- Não ma vai recusar, pois não, meu capitão? - perguntou então em tom de séria gravidade.
- Depende daquilo que for.
- Posso ter uma licença de vinte e quatro horas?
- Não, nem sequer tens direito a pedi-la.
- Eu sei que não, mas tenho de lha pedir.
- Pois bem, já tiveste a tua resposta.
- Por favor, não me mande embora, meu capitão.
Havia qualquer coisa de estranho naquele rapaz que ali estava à porta, tão rígido e insistente. E aquele capitão da Cornualha sentiu de imediato essa estranheza, fitando-o então com aguda curiosidade.
- Porquê, qual é a pressa? - perguntou ele, interessado.
- Estou a braços com um problema pessoal. Tenho de ir a Blewbury - respondeu o rapaz.
- Blewbury, hem? Alguma rapariga, é?
- Sim, é uma mulher, meu capitão. - E o rapaz, enquanto ali estava de pé, com cabeça ligeiramente inclinada para a frente, tornou-se - de súbito terrivelmente pálido, quase lívido, um intenso sofrimento estampado nos lábios cerrados, violáceos. Vendo isto, também o capitão se sentiu empalidecer, voltando-lhe então as costas.
- Bom, então vai lá - disse. - Mas, por amor de Deus, não te metas em barulhos nem me arranjes problemas, hem?
- Pode estar descansado, meu capitão. Muito obrigado.
Dito isto, saiu porta fora. O capitão, com um ar preocupado, tomou um gin com absinto. Henry conseguiu alugar uma bicicleta. Era meio-dia quando deixou o aquartelamento. Tinha de percorrer sessenta milhas por uma série de atalhos ensopados e lamacentos, mas, sem sequer pensar em comer, saltou para o selim e pôs-se imediatamente a caminho.
Na quinta, March dedicava-se a um trabalho que já em tempos tivera entre mãos. Um grupo de abetos escoceses erguia-se junto à extremidade do telheiro, sobre um pequeno talude por onde passava a vedação, serpenteando entre dois prados cobertos de urzes e tojo. A mais distante destas árvores estava morta. Morrera no Verão e para ali ficara com os seus ramos secos cheios de agulhas acastanhadas e murchas, erguendo-se no ar qual cadáver adiado. Não era uma árvore muito grande, além de que não havia dúvidas de que estava morta e bem morta. Assim, March decidira abatê-la, ainda que não estivessem autorizadas a cortar quaisquer árvores. Mas a verdade é que, naqueles tempos de falta de combustível, daria uma esplêndida lenha para alimentar a lareira.
Há já uma semana ou mais que ela andava a dar alguns golpes furtivos no tronco, desbastando-o de quando em vez à machadada durante uns cinco minutos, sempre junto à base e muito perto do solo, a fim de que ninguém notasse. Não tentara com a serra porque isso era um trabalho demasiado pesado para si. A árvore erguia-se agora com um profundo lanho na base do tronco, toda inclinada como que prestes a desabar, presa apenas por algum nó mais forte. Contudo, recusava-se a cair.
Estava-se em Dezembro, num fim de tarde de um dia frio e húmido. Uma névoa glacial subia dos bosques e dos vales, enquanto as trevas se adensavam por sobre os campos, prontas a tudo submergirem sob o seu manto negro. Viam-se ainda uns restos de claridade amarelada esmaecendo no horizonte, lá onde o sol começava a desaparecer por detrás dos bosques rasos perdidos na distância. March, pegando no machado, dirigiu-se para a árvore. O baque surdo dos seus golpes, ressoando, débeis, por sobre a quinta, soava de modo assaz ineficaz no ar invernio. Banford viera até cá fora vestida com o seu casaco grosso, mas, dado não trazer chapéu na cabeça, os seus cabelos, curtos e ralos, esvoaçavam sob o vento desagradável que se fazia sentir, zunindo por sobre o bosque, silvando por entre os pinheiros.
- Aquilo de que tenho medo - dizia Banford - é que venha a cair sobre o barracão e que lá tenhamos nós de ter mais um trabalhão a repará-lo.
- Oh, não me parece - respondeu March, endireitando-se e passando o braço pela testa alagada em suor. Estava terrivelmente afogueada, o rosto todo vermelho, com uma expressão bizarra nos olhos muito abertos, o lábio superior levantado, deixando à mostra os seus dois incisivos, muito brancos e brilhantes, que lhe davam um curioso ar de coelho.
Um homem baixo e corpulento, com um sobretudo preto e um chapéu de coco, chegou saltitando através do pátio. Tinha um rosto rosado e uma barba branca, com uns olhos pequeninos, de um azul pálido. Ainda não era muito velho, mas tinha ar de ser nervoso, no seu andar curto e miúdo.
- O que acha, pai? - perguntou Banford. - Não acha que pode atingir o barracão quando cair?
- O barracão? Não! Que ideia! - replicou o velhote. - E impossível atingir o barracão. A vedação já não digo, mas o barracão...
- A vedação não tem importância - disse March na sua voz forte.
- Como sempre, só digo asneiras - volveu Banford, afastando dos olhos o cabelo em desalinho.
A árvore mantinha-se de pé como presa de um só músculo, inclinada e plangente sob aquele vento forte. Crescera num talude entre dois prados, por sobre uma pequena vala agora seca. No topo do talude, erguia-se uma vedação solitária, algo desgarrada, subindo em direcção aos arbustos do cimo do monte. Erguiam-se ali diversas árvores, agrupadas naquele canto do campo, perto do barracão e do portão que dava para o pátio. Na direcção deste portão, estendendo-se horizontalmente ao longo dos prados monótonos e iguais, ficava a vereda, irregular e ervosa, que levava à estrada lá ao fundo. Aí havia uma outra vedação, já meio arruinada e periclitante arrastando-se campo fora com as suas compridas traves apodrecidas apoiadas em estacas curtas e grossas, bastante afastadas umas das outras. Os três estavam de pé, atrás da árvore, no canto do prado junto ao barracão, logo acima do portão do pátio. A casa, com as suas duas empenas e um alpendre, erguia-se, aprumada, no meio de um pequeno quintal relvado existente no pátio. Uma mulher atarracada e gorducha, de rosto corado, com um xaile de lã vermelha pelos ombros, surgiu então à porta, detendo-se depois sob o alpendre.
- Então, ainda não a deitaram abaixo? - exclamou, numa voz fraca e esganiçada.
- Está-se a pensar nisso - respondeu o marido. O tom com que falava com as duas raparigas era sempre algo trocista e mordaz. March não queria continuar a tentar derrubar a árvore enquanto ele ali estivesse. Pois, quanto a ele, nem um palito se incomodaria a levantar do chão se o pudesse evitar, queixando-se, à semelhança da filha, de ter um ombro apanhado de reumatismo. Assim, deixaram-se estar ali os três parados, momentaneamente imóveis e silenciosos na tarde fria, de pé junto ao pátio no canto mais afastado do campo.
Ouviram então o bater longínquo de um portão, pelo que viraram a cabeça para ver quem seria. Perdido na distância, vindo pela vereda verdejante, horizontal e plana, viram um vulto que nesse instante voltava a saltar para uma bicicleta, avançando aos solavancos por entre as ervas que atulhavam o caminho, em direcção ao portão da quinta.
- Mas é um dos nossos rapazes! Jack, creio - disse o velhote.
- Não, não pode ser - disse Banford por seu turno.
March virou também a cabeça, esticando o pescoço para ver melhor. E só ela reconheceu aquele vulto de caqui, corando sem dizer palavra.
- Não, não me parece que seja Jack - disse o velhote, fitando a distância com os seus olhinhos azuis, muito redondos sob as pestanas brancas.
Decorridos alguns instantes, a bicicleta surgiu à vista, sempre ziguezagueante, posto o que o ciclista se apeou junto ao portão. Era Henry, o rosto encharcado e vermelho, todo sujo de lama. Aliás, da cabeça aos pés, todo ele era lama.
- Oh! - exclamou Banford, como que subitamente receosa. - Mas é o Henry!
- O quê! - exclamou o velhote em voz surda. Tinha uma forma de falar muito curiosa, algo pastosa e rápida, como se andasse sempre a resmungar entredentes, além de também ser um pouco surdo. - O quê? O quê? Quem é? Quem é que disseste que era? O tal rapaz? O tal rapaz da Nellie? Oh! Oh! - E um sorriso irónico espelhou-se-lhe no rosto rosado, as pestanas brancas moven-do-se rápidas e trocistas.
Henry, afastando o cabelo molhado da fronte húmida e quente, já os tinha visto. E, ao ouvir o que o velhote dissera, o seu rosto jovem, afogueado e vermelho, pareceu incendiar-se num súbito fulgor faiscante, brilhando, luminoso, à luz crua daquela dia frio.
- Oh, estão todos aqui! - disse então ele, soltando aquele seu riso de cachorrinho, rápido e breve. Sentia-se tão afogueado e tonto de tanto pedalar que mal sabia onde estava. Encostando a bicicleta à vedação, saltou então por ela. Depois, sem entrar no pátio, trepou até ao canto onde ficava o talude.
- Bem, devo dizer que não estávamos à sua espera - disse Banford, lacónica.
- Sim, parece-me bem que não - respondeu ele, olhando para March.
Esta estava um pouco afastada, mantendo--se de pé com um joelho dobrado, um ar ausente no rosto inexpressivo, o machado pendendo-lhe da mão num gesto de abandono, com a ponta apoiada no chão. Tinha os olhos muito abertos, vazios e abstractos, com o lábio superior levantado e os dentes à mostra, dando-lhe aquele estranho ar de coelho, misto de fascínio e desalento. No exacto momento em que vira aquele rosto rubro e coruscante, tudo acabara para ela. Sentia-se tão indefesa como se estivesse amarrada de pés e mãos. Sim, no exacto momento em que vira a forma como aquela cabeça parecia adiantar-se, atirada para a frente, tudo acabara para ela.
- Bom, mas afinal quem é? Então, não me dizem quem é? - perguntou o velhote, sorridente e trocista, naquele seu tom resmungado.
- Ora essa, pai, bem sabe quem é. E o senhor Grenfel, de quem já nos ouviu falar - respondeu friamente Banford.
- Sim, acho que sim, já te ouvi falar dele. Mas, à parte isso, não sei praticamente nada a seu respeito - resmungou o ancião, com aquele seu curioso risinho sarcástico espelhado no rosto. - Como está? - acrescentou depois, estendendo subitamente a mão a Henry.
O rapaz apertou-lhe a mão como que surpreendido. Depois, voltaram a afastar-se.
- Então veio a pedalar todo o caminho desde a planície de Salisbury, não é assim? - perguntou o velhote.
- Sim, é verdade.
- Ah! Grande esticão!... E quanto tempo levou, hem? Muito tempo, não? Presumo que várias horas.
- A roda de quatro, sim.
- Quatro, hem? Sim, logo pensei que devia andar por aí. E então quando é que tem que voltar?
- Tenho licença até amanhã à tarde.
- Até amanhã à tarde, disse? Sim, senhor, muito bem. Ah! As raparigas não estavam à sua espera, pois não?
E o velhote, virando-se para as raparigas, olhou-as com os seus olhinhos trocistas, uns olhos redondos e azuis, de um azul pálido muito brilhante sob as pestanas brancas. Henry olhou também à sua volta. Começava a sentir-se um pouco embaraçado. Olhou então para March, que continuava imóvel, olhos fixos na distância como que a ver por onde andava o gado. Tinha a mão assente no cabo do machado, a lâmina negligentemente pousada no chão.
- Que estavam aqui a fazer? - perguntou ele, na sua voz suave e cortês. - A deitar abaixo uma árvore?
March parecia não o ouvir, extática como se estivesse em transe.
- É verdade - respondeu Banford. - Há já uma semana que andamos a tentar derrubá-la.
- Oh! Então têm feito todo o trabalho sozinhas, não?
- A Nellie é que tem, eu cá por mim não fiz nada - retorquiu Banford.
- Palavra? Nesse caso, deves ter tido muito trabalho - disse então ele, dirigindo-se directamente a March num tom de voz algo estranho, apesar de gentil e cortês. Mas ela não respondeu, mantendo-se um pouco de lado, os olhos obsessivamente fixos na distância, olhando os bosques lá ao fundo como que hipnotizada.
- Nellie! - gritou Banford em voz aguda. - Não sabes responder?
- Quem, eu? - exclamou March, só então se virando para os olhar. - Alguém falou comigo?
- Está na lua, é o que é! - resmoneou o velhote, virando o rosto num sorriso. - Deve estar apaixonada, hem, assim a sonhar acordada!...
- Falaste comigo, foi? - disse March, olhando então para o rapaz de uma forma estranha, como se acabasse de voltar de muito longe, um ar de dúvida nos olhos abertos, interrogativos, o rosto levemente ruborizado.
- Disse que deves ter tido muito trabalho com a árvore, que deves andar muito cansada - respondeu ele cortesmente.
- Oh, isso! Dei-lhe umas machadadas de quando em vez, pensando que acabaria por cair.
- Graças aos céus que não caiu durante a noite, caso contrário teríamos morrido de susto - disse Banford.
- Deixa-me acabar isto por ti, está bem? - pediu o rapaz.
March estendeu então o machado na sua direcção, o cabo virado para ele.
- Não te importas? - perguntou.
- Claro que não, se me deres licença - respondeu ele.
- Oh, cá por mim fico satisfeita quando a vir por terra! Só isso interessa, nada mais - volveu ela em tom negligente.
- Para que lado irá cair? - disse Banford. - Será que pode cair sobre o barracão?
- Não, não deve atingir o barracão - respondeu ele. - Acho que irá cair além, em terreno aberto. Quanto muito, poderá dar uma volta e cair sobre a vedação.
- Cair sobre a vedação! - exclamou o velhote. - Ora essa, cair sobre a vedação! Inclinada como está, com um ângulo destes?
Além de que ainda é mais longe do que o barracão! Não, sobre a vedação é que não vai cair.
- Realmente - atalhou Henry -, isso é muito improvável. Acho que tem razão, tem muito espaço livre para cair. E, deve cair em terreno aberto.
- Espero que não vá cair para trás, abatendo-se sobre as nossas cabeças! - disse o velhote, sarcástico.
- Não, isso não vai acontecer - respondeu Henry, tirando a samarra e o casaco. - Toca a andar, patos, fora daqui!
Vindos do prado acima, uma fila de quatro patos brancos com pintas acastanhadas, conduzidos por um macho castanho e verde, vinham disparados colina abaixo, vogando como barcos em mar encapelado, os bicos abertos, furiosos, enquanto desciam em grande velocidade por ali abaixo em direcção à vedação e ao pequeno grupo ali reunido, grasnando numa tal excitação que dir-se-ia trazerem novas da Armada Espanhola.
- Oh, grandes tontinhos, grandes tontinhos! - gritou Banford, indo até junto deles para os afugentar dali. Mas eles dirigiram-se impetuosamente ao seu encontro, abrindo os bicos amarelo esverdeados e grasnando como se estivessem excitadíssimos para lhe comunicar uma qualquer novidade.
- Aqui não há comida, não há nada para vocês. Esperem um bocado que já comem - dizia-lhes Banford. - Vá, vão-se embora, vão--se embora! Dêem a volta, vão para o pátio!
Mas, como eles não lhe obedeciam, ela decidiu-se a trepar a vedação a fim de ver se os desviava dali, de modo a que dessem a volta por debaixo do portão e entrassem no pátio. E lá foram eles atrás, a abanarem-se novamente todos excitados, sacudindo o rabo como popas de pequeninas gôndolas ao mergulharem por debaixo da grade do portão. Banford parou então no alto do talude, imediatamente acima da vedação, ficando ali de pé a olhar para os outros três lá em baixo.
Erguendo os olhos, Henry fitou-a, indo ao encontro daqueles olhos mirrados e fracos, daquelas pupilas arredondadas e estranhas que o miravam por detrás dos óculos. Perfeitamente imóvel, olhou então para cima, para a árvore inclinada e instável. E, enquanto olhava para o céu, como um caçador observando o voo da ave que se propõe abater, pensou para consigo: "Se a árvore cair da forma que parece indicar, dando uma volta no ar antes da queda, então aquele ramo além vai abater-se sobre ela, no ponto exacto em que ela está, de pé no cimo daquele talude."
Voltou então a olhá-la. Lá estava ela, a afastar os cabelos da testa, naquele seu gesto tão habitual e constante. No fundo do seu coração, ele já decidira que ela tinha de morrer. Uma força terrível, paralisante, pareceu nascer dentro de si à semelhança de um poder de que fosse ele o único detentor. Se se voltasse, se fizesse qualquer movimento, mesmo que ínfimo como um cabelo, na direcção errada, então aquele poder fugir-lhe-ia, esfumar-se-ia instantaneamente.
- Tenha cuidado, Miss Banford - disse então ele. E o seu coração como que se imobilizou, inteiramente possuído daquela vontade pura, daquele desejo indómito de que ela não se movesse.
- Quem, eu? Quer que eu tenha cuidado, é? - gritou-lhe Banford, numa voz possuída do mesmo tom sarcástico do pai. - Porquê, pensa que me pode atingir com o machado, é isso?
- Não, mas no entretanto pode dar-se o caso de ser a árvore a atingi-la - respondeu ele numa voz neutra. Contudo, o tom em que falou fê-la deduzir que ele estava tão-só a ser falsamente solícito no intuito de a levar a mover-se, no prazer de a ver vergar, obediente, sob a sua vontade.
- Isso é absolutamente impossível - disse ela então.
Ele ouviu-a. Contudo, manteve a sua imobilidade de estátua, quedando-se hirto e parado como um bloco de gelo, não fosse o seu poder esvair-se.
- Não, olhe que é sempre uma hipótese. Acho melhor descer por aquele lado.
- Oh, está bem, deixe-se disso! Vamos mas é a ver essa famosa arte dos Canadianos a abater árvores - replicou ela.
- Então, atenção! - disse ele, pegando no machado e olhando à sua volta para ver se tinha espaço livre.
Houve um momento de pausa, de pura imobilidade, em que o mundo pareceu deter--se, suspenso daquele instante. Então, a sua silhueta pareceu de súbito irromper do nada, avolumando-se gigantesca e terrível, para logo desfechar dois golpes rápidos, fulgurantes, um após outro em sucessão imediata, fazendo com que a árvore finalmente abatida, girasse lentamente, num estranho rodopiar de parafuso, fendendo o ar até descer sobre a terra como um súbito manto de trevas. E só ele viu aquilo que então aconteceu. Só ele ouviu o estranho grito que Banford soltou, um grito débil e abafado, quando viu os ramos superiores a abaterem-se, aquela sombra negra descendo, célere, sobre a terra, desabando, terrível, sobre si. Só ele viu como ela se encolheu, num gesto tímido e instintivo, recebendo na nuca toda a força da pancada. Só ele viu como ela foi atirada longe, como acabou por se estatelar, feita uma massa informe e retorcida, aos pés da vedação. Só ele, mais ninguém. E o rapaz viu tudo isto com uns olhos muito abertos e brilhantes, tão fixos e intensos como se observasse a queda de um pato-bravo que acabasse de abater. Estaria ferida, estaria morta? Não, estava morta. Morta!
De imediato, deu um grande grito. Simultaneamente, March soltou um grito agudo, selvagem, quase que um guincho, que ecoou longe na distância, repercutindo-se, sonoro, na tarde fria e parada. Quanto ao pai de Banford, emitiu um estranho urro, longo e abafado.
O rapaz saltou a vedação e correu para a figura ali caída. A nuca e a cabeça não passavam de uma massa informe, sangue e horror em partes iguais. Virou-a então de costas. O corpo fremia ainda em rápidas convulsões, secas e breves. Mas já estava morta, já estava de facto morta. Ele sabia que assim era, sentia-o na alma e no sangue. Cumpria-se assim aquela sua necessidade interior, aquela exigência vital, imperiosa, sendo ele o sobrevivente. Sim, fora ele quem sobrevivera, arrancado que fora o espinho que até então lhe revolvera as entranhas. Assim, pousou-a gentilmente no chão. Estava morta, disso não havia dúvidas.
Erguendo-se, viu March que se quedara hirta como que petrificada, ali parada absolutamente imóvel, dir-se-ia que presa ao chão por uma força invisível. Tinha o rosto mortalmente pálido, os olhos negros transformados em dois grandes abismos aquosos, trevas e dor bailando-lhe nas pupilas. O velhote tentava escalar a vedação, horrível de ver na incoerência e no esforço.
- Receio bem que tenha morrido - disse então o rapaz.
O velhote chorava de uma forma estranha, soluçada, emitindo curiosos ruídos enquanto se apressava por sobre a vedação.
- O quê! - gritou March, como que electrizada.
- Sim, receio bem que sim - repetiu o rapaz.
March vinha agora a caminho. Adiantando-se-lhe, o rapaz atingiu a vedação antes de ela lá conseguir chegar.
- Que estás a dizer, morta, como? - perguntou em voz aguda.
- Assim mesmo, morta. Receio bem que esteja morta - respondeu ele com enorme suavidade.
Ela tornou-se então ainda mais pálida, terrivelmente pálida e branca. E ficaram ali os dois a olhar um para o outro. Os seus olhos negros muito abertos fitavam-no num último lampejo de resistência. Depois, finalmente quebrada na agonia da dor, começou a choramingar, a chorar de uma forma contida, o corpo sacudido por estremeções, à semelhança de uma criança que não quer chorar mas que, destruída por dentro, solta aqueles primeiros soluços, sacudidos e fracos, que antecedem a irrupção do choro, do brotar das lágrimas, aqueles primeiros soluços secos, devastadores, terríveis.
Ele ganhara. Ela quedava-se ali de pé, abandonada e só, no mais total desamparo, o corpo sacudido por aqueles soluços secos, os lábios percorridos por um tremor rápido, espasmódico. E então, precedidas de uma pequena convulsão como acontece com as crianças, vieram as lágrimas, a agonia cega dos olhos turvos, rasos de água, do choro desgastante e infindo, dos olhos gastos até à última gota. Caiu depois por terra, ficando sentada na relva com as mãos sobre o peito e o rosto erguido, os olhos toldados por aquele choro convulsivo. Ele ficou de pé, olhando-a de cima, qual estátua pálida e muda, como que subitamente imobilizado para toda a eternidade. Sem se mover, quedou-se assim imóvel a olhar para ela. E, apesar da tortura que tal cena lhe causava, apesar da tortura do seu próprio coração, da tortura que lhe enovelava as entranhas, ele rejubilava. Ganhara, finalmente.
Longo tempo volvido, debruçou-se enfim sobre ela, pegando-lhe na mão.
- Não chores - disse-lhe então com doçura. - Não chores.
Ela olhou para ele por entre as lágrimas que lhe escorriam olhos abaixo, um ar abstracto no rosto desamparado e submisso. Assim, deixou-se estar de olhos pregados nos dele como se não o visse, como se subitamente cega, sem vista, apesar de continuar a olhá-lo de rosto erguido. Sim, não mais voltaria a deixá-lo. Ele tinha-a conquistado. E ele sabia disso, por isso rejubilava. Pois queria-a para sua mulher, a sua vida necessitava dela. E agora conquistara-a. Conquistara-a, conquistara finalmente aquilo de que a sua vida tanto necessitava.
Mas, se bem que a tivesse conquistado, ela ainda lhe não pertencia. Casaram, pois, pelo Natal conforme planeado, pelo que ele voltou a obter uma licença de dez dias. Foram então para a Cornualha, para a aldeia donde ele era natural, mesmo junto ao mar. Pois ele apercebera-se de que seria terrível para ela continuar na quinta por muito mais tempo.
Mas, ainda que ela agora lhe pertencesse, ainda que vivesse na sua sombra, como se não pudesse estar longe dele, a verdade é que ela não era feliz. Não que quisesse abandoná-lo, isso nunca, mas também não se sentia livre ao pé dele. Tudo à sua volta parecia espiá-la, pressioná-la. Ele tinha-a conquistado, tinha-a ao seu lado, fizera dela sua mulher. Quanto a ela, ela pertencia-lhe e sabia-o. Contudo, não era feliz. E também ele continuava a sentir-se frustrado. Apercebera-se de que, apesar de ter casado com ela e de, aparentemente, a ter possuído de todas as formas possíveis, apesar, inclusive, de ela querer que ele a possuísse, de ela o querer com todas as forças do seu ser, nada mais desejando para lá disso, a verdade é que não se sentia plenamente realizado, como se houvesse algures uma falha indetectada.
Sim, faltava, de facto, qualquer coisa. Pois ela, em vez da sua alma rejubilar com a nova vida que agora tinha, parecia antes definhar, exaurir-se, sangrar como se estivesse ferida. Assim, ficava longo tempo com a sua mão na dele, olhando o mar. Mas nos seus olhos negros e vadios havia como que uma espécie de ferida, o rosto ligeiramente mais magro, mais mirrado. E caso ele lhe falasse, ela virar--se-ia para ele com um sorriso diferente, débil e baço, o sorriso trémulo e ausente de uma mulher que, morta a sua antiga forma de amar, ainda não conseguira despertar para a nova forma de amor que agora lhe era dado experimentar. Pois ela continuava a sentir a necessidade de fazer qualquer coisa, de se esforçar em qualquer direcção. E ali não havia nada para fazer, não havia direcção em que pudesse esforçar-se. Além disso, não conseguia aceitar totalmente aquela espécie de apagamento, de submersão, que a nova forma de amar parecia exigir-lhe. Pois, estando apaixonada, sentia-se na necessidade de, de uma forma ou de outra, dar prova desse mesmo amor exteriorizando-o. Sentia-se dominada pela enervante necessidade, tão comum nos nossos dias, de dar prova do amor que se tem por alguém. Mas sabia que, na verdade, devia deixar de continuar a querer dar prova do seu amor. Pois ele não aceitaria esse amor, um amor que tinha de dar prova de si mesmo, o amor de que ela queria dar prova perante ele. Sempre que tal sucedia, ele ficava sombrio, um ar de desagrado no rosto carregado. Não, ele não a deixaria dar prova do seu amor para com ele. Não, ela tinha de ser passiva, aquiescente, de se deixar apagar, de se deixar submergir sob as águas calmas do amor. Ela tinha de ser como as algas que costumava ver ao passear de barco, balouçando suave e delicadamente, para sempre submersas sob as águas, com todas as suas delicadas fibrilas para fora, estendidas num doce ondular, vergadas e passivas sob a força da corrente, delicadas, sensíveis, numa entrega total, absoluta, abandonando-se, em toda a sua sensibilidade, em toda a sua receptividade, sob as águas escuras do mar envolvente, sem nunca, mas nunca, tentarem subir, emergir de sob as águas enquanto vivas. Não, nunca. Nunca emergem de sob as águas enquanto vivas, só depois de mortas, quando, já cadáveres, sobem então à tona, levadas pela maré. Mas, enquanto vivas, mantêm-se sempre submersas, sempre sob as ondas. E, contudo, apesar de jazerem sob as ondas, podem criar poderosas raízes, raízes mais fortes que o próprio ferro, raízes que podem ser tenazes e perigosas no seu suave ondular, batidas pelas correntes.
Jazendo sob as ondas, podem, inclusive, ser mais fortes e indestrutíveis do que os orgulhosos carvalhos que se erguem sobre a terra. Mas sempre, sempre submersas, sempre sob as águas. E ela, sendo mulher, teria de ser assim, teria de aprender a ser como essas algas.
Mas ela estava de tal modo acostumada a ser precisamente o oposto! Sempre tivera de chamar a si todas as responsabilidades, todas as preocupações, sempre tivera de ser ela a ocupar-se do amor e da vida. Dia após dia, tornara-se responsável pelo novo dia, pelo novo ano, pela saúde da sua querida Jill, pela sua felicidade, pelo seu bem-estar. Na verdade, e na medida da sua própria pequenez, acabara por se sentir responsável pelo bem--estar de todo o mundo. E o seu grande estimulante fora precisamente esse maravilhoso sentimento, esse sentimento de que, à escala da sua reduzida dimensão, ela era responsável pelo bem-estar do mundo inteiro.
E falhara. Falhara e sabia-o, sabia que, mesmo à sua pequena escala, acabara por falhar. Falhara em não conseguir satisfazer o seu próprio sentido das responsabilidades. Pois tudo lhe fora tão difícil! De início, tudo lhe parecera fácil, tudo lhe parecera belo. Mas, quanto mais se esforçava, mais difíceis as coisas se tornavam. Parecera-lhe tão fácil tornar feliz um ente querido! Mas não, fora terrível.
Toda a sua vida se esforçara, toda a sua vida tentara alcançar algo que parecia estar tão próximo, quase ao alcance da mão, gastando--se e consumindo-se até ao extremo limite das suas forças, para só então se dar conta de que isso estava sempre para além de si.
Sempre inatingível, sempre para além de si, irrealizável e vago, até que, por fim, acabara por se ver sem nada, totalmente despojada e vazia. A vida por que lutara, a felicidade que sempre almejara, o bem-estar por que tanto se esforçara, tudo resvalou no abismo, tornando--se vago e irreal, por mais longe que ela tentasse ir, as mãos estendidas, anelantes e vazias. Quisera ter um objectivo, uma finalidade por que lutar, mas não, não havia nada, só o vazio. E sempre aquela horrível busca, aquele constante esforço, aquele empenhamento em alcançar algo que talvez estivesse logo ali, logo ali ao virar da esquina. Até mesmo na sua tentativa de tornar Jill feliz, até mesmo aí falhara. Agora quase que se sentia aliviada por Jill ter morrido. Pois apercebera-se de que nunca a conseguiria fazer feliz. Jill nunca deixaria de se preocupar, sempre atormentada e aflita, cada vez mais mirrada, cada vez mais fraca. Em vez de diminuírem, as suas preocupações e dores nunca deixariam de aumentar. Sim, havia de ser sempre assim, havia de ser sempre assim até ao findar dos tempos. E, na verdade sentia--se aliviada, quase feliz por ela ter morrido.
Mas se, em vez disso, se tivesse casado com um homem, tudo teria sido igual. Sempre com a mulher a esforçar-se, a esforçar-se por tornar o homem feliz, a empenhar-se dentro dos seus limitados recursos pelo bem-estar do seu pequeno mundo. E nada obtendo senão o fracasso, um constante e enorme fracasso. Quanto muito, só pequenos e ilusórios sucessos, frivolidades tão aburdas como o dinheiro ou a ambição. Mas no aspecto em que verdadeiramente mais desejaria triunfar, no angustiado esforço de tentar tornar feliz e perfeito um qualquer ente amado, então aí o fracasso revelava-se total, quase catastrófico. Deseja-se sempre tornar feliz o ser amado, parecendo--nos que a sua felicidade está perfeitamente ao nosso alcance. Basta que façamos isto, aquilo e aqueloutro. E empenhamo-nos com toda a boa-fé, fazemos tudo e mais alguma coisa, mas, de cada vez, o falhanço parece crescer mais e mais, agigantar-se, medonho e terrível. Podemos, inclusive, lançar por terra o nosso amor-próprio, esforçarmo-nos e lutarmos até aos ossos sem que as coisas melhorem, antes pelo contrário, com tudo a piorar de dia para dia, indo de mal a pior, e bem assim a almejada felicidade. Oh, a felicidade! Que medonho engano, não é!
Pobre March! Com toda a sua boa vontade e sentido das responsabilidades, ela esforçara-se até mais não, esforçara-se e lutara até começar a ter a sensação de que tudo, de que toda a vida não passava de um horrível abismo de poeira e vazio. Quanto mais nos esforçamos por alcançar a flor fatal da felicidade, tremulando, tão amorosa e azul, na beira de um barranco quase ao alcance da mão, tanto mais assustados ficamos ao apercebermo-nos do horrível e pavoroso abismo do precipício que se abre aos nossos pés, no qual acabaremos inevitavelmente por cair, como num poço sem fundo, se tentarmos ir mais longe. E então colhe-se flor após flor, mas nunca a flor, nunca aquela por que tanto ansiamos. Pois essa flor oculta no seu cálice, qual poço sem fundo, um pavoroso abismo, um abismo de trevas e voragem, insondável, tenebroso.
Eis toda a história da busca da felicidade, quer seja a nossa ou a de outrem que se pretenda atingir. Tal busca acaba sempre, mas sempre, na horrível sensação de haver um poço sem fundo, um abismo de pó e nada no qual acabaremos inevitavelmente por cair se se tentar ir mais longe.
E as mulheres? Que outro objectivo pode uma mulher conceber senão a felicidade? Só a felicidade e nada mais que a felicidade, a felicidade para si própria e para todos aqueles que a rodeiam, a felicidade para o mundo inteiro, em suma. Só isso, nada mais. E assim, assume todas as responsabilidades inerentes e parte em busca do almejado objectivo. Quase que o pode ver ali, logo ali no fim do arco-íris. Ou então um pouquinho mais além, no azul da distância. De qualquer das formas, não muito longe, nunca muito longe.
Mas o fim do arco-íris é um abismo sem fundo, perdendo-se terra adentro, no qual se pode mergulhar sem nunca se chegar a lado algum, e o azul da distância é um poço de vazio que nos pode engolir, a nós e a todos os nossos esforços, no vácuo da sua voracidade sem por isso deixar de ser um abismo sem fim, um abismo de trevas e de nada. Sim, a nós e a todos os nossos esforços. Assim é a incessante perseguição da felicidade, sempre tão ilusoriamente ao nosso alcance!
Pobre March! Ela que partira com tão admirável determinação em busca da meta entrevista no azul da distância. E quanto mais longe ia, tanto mais terrível se tornava a noção da vacuidade envolvente. Por último, tal percepção tornara-se para si numa fonte de dolorosa agonia, numa sensação de insanidade, de loucura.
Estava feliz por tudo ter acabado. Estava feliz por se poder sentar na praia a olhar o poente por sobre o mar, sabendo que tudo acabara, que todo aquele formidável esforço chegara ao fim. Nunca mais voltaria a lutar pelo amor e pela felicidade. Não, nunca mais. Pois Jill estava agora segura, salva pela morte. Pobre Jill, pobre Jill! Como devia ser doce estar morta!
Mas, quanto a si, o seu destino não se cumpria na morte. Tinha de deixar o seu destino nas mãos daquele rapaz. Só que o rapaz pretendia muito mais do que isso, muito mais. Ele pretendia que ela se lhe entregasse sem reservas, que se deixasse afundar, submergir por ele. E ela, ela só desejava poder quedar-se imóvel, ficar ali sentada a olhar a distância como uma mulher que chegou ao fim do caminho, como uma mulher que, atingida a última etapa, pára por fim para descansar. Ela queria ver, saber, compreender. Ela queria estar sozinha, ficar só, com ele a seu lado, sim, mas só.
Oh, mas ele!... Ele não queria que ela observasse mais nada, que continuasse a ver ou a compreender fosse o que fosse. Ele queria velar-lhe o seu espírito de mulher como os Orientais usam velar o rosto das suas esposas. Ele queria que ela se lhe entregasse de corpo e alma, que adormecesse o seu espírito de independência. E queria libertá-la de todo o esforço de realização, de tudo aquilo que parecia ser a sua verdadeira raison d'etre. Ele queria torná-la submissa, rendida, queria que ela deixasse cegamente para trás toda a sua vívida consciência, abandonando-a de vez e para sempre. Queria extirpar-lhe essa consciência, queria que ela se tornasse tão-só sua mulher, sua mulher e nada mais. Nada mais.
Ela sentia-se tão cansada, tão cansada, quase como uma criança que se sente cheia de sono mas que luta contra isso como se dormir fosse sinónimo de morrer. Assim, os seus olhos pareciam dilatar-se mais e mais, tensos e rasgados, no esforço obstinado de se manter acordada. Ela tinha de se manter acordada. Tinha de saber. Tinha de ponderar, ajuizar e decidir. Tinha de manter bem firmes nas mãos as rédeas da sua própria vida. Tinha de ser uma mulher independente até ao fim. Mas estava tão cansada, tão cansada de tudo e de todos... E tinha tanto sono, tanto sono... Sentia-se tão quebrada ali ao pé do rapaz, ele transmitia-lhe uma tal calma, uma tal tranquilidade...
Contudo, os olhos dilatavam-se-lhe mais e mais, ali sentada num recanto daqueles altos penhascos bravios da Cornualha Ocidental, olhando o poente por sobre as águas do mar, olhando para oeste, lá onde ficavam o Canadá e a América. Ela tinha de saber, tinha de conseguir ver aquilo que estava para vir, aquilo que a esperava para lá do horizonte. Sentado a seu lado, o rapaz olhava as gaivotas que voavam mais abaixo, um ar sombrio no rosto carregado, os olhos tensos, descontentes. Ele queria vê-la adormecida e em paz a seu lado. Queria que ela se lhe abandonasse, queria ser o seu sono e a sua paz. E ali estava ela, quase morta pelo esforço insano da sua própria vigília. Contudo, ela nunca adormeceria. Não, nunca. Às vezes, ele pensava amargamente que teria sido melhor abandoná-la, que nunca devia ter matado Banford, que devia ter deixado que Banford e March se matassem uma à outra.
Mas isso era mera impaciência e ele sabia-o. Estava à espera, à espera de poder partir para oeste. E desejava ansiosamente partir, era quase um suplício ter de continuar à espera de poder deixar a Inglaterra, de poder ir para oeste, de poder levar March consigo. Oh, que ânsias de deixar aquela costa! Pois tinha esperança de que, quando fossem já por sobre as ondas, cruzando os mares com a Inglaterra finalmente para trás, aquela Inglaterra que ele tanto odiava, talvez porque, de certa forma, esta parecia tê-lo envenenado, ter-lhe espetado o seu ferrão, ela acabaria finalmente por adormecer, fechara finalmente os olhos, dando-se-lhe sem reservas.
E então ela seria finalmente sua e ele poderia, por fim, viver a sua própria vida, a vida por que tanto ansiava. Agora sentia-se irritado e aborrecido, sabendo que ainda não alcançara essa vida que desejava viver. E nunca a alcançaria enquanto ela não se rendesse, enquanto ela não adormecesse de vez, entregando-se-lhe, dissolvendo-se nele. Então sim, então ele já poderia viver a sua própria vida enquanto homem e enquanto macho, tal como ela já poderia viver a dela enquanto mulher e enquanto fêmea. E deixaria para sempre de haver esta medonha tensão, este esforço tenaz, obstinado, insano. Ela nunca mais voltaria a parecer um homem, a querer ser uma mulher independente com responsabilidades de homem. Não, nunca mais, pois até mesmo a responsabilidade pela sua própria alma ela teria de lhe confiar, de entregar nas suas mãos. Ele sabia que tinha de ser assim, por isso lhe fazia obstinadamente frente, esperando a sua rendição.
- Sentir-te-ás melhor uma vez que tenhamos partido, cruzando os mares em direcção ao Canadá, lá diante - disse-lhe ele quando se sentaram nas rochas por sobre o penhasco.
Ela olhou então para o horizonte, lá onde o céu e o mar se confundiam, como se este não fosse real. Depois, voltando-se para ele, olhou-o com aquela estranha expressão de esforço de uma criança em luta contra o sono.
- Achas que sim? - perguntou.
- Sim, acho que sim - respondeu ele calmamente.
As pálpebras descaíram-lhe então ligeiramente, num movimento lento, suave, quase imperceptível, sob o peso involuntário do sono. Mas, voltando a erguê-las, abriu os olhos e disse:
- Sim, talvez. Não sei dizer. Não faço ideia de como as coisas se irão passar depois de lá chegarmos.
- Ah, se ao menos pudéssemos partir depressa! - exclamou ele, numa voz dolorida.
As duas raparigas eram vulgarmente conhecidas pelos seus apelidos, Banford e March. Juntas, tinham tomado conta da quinta, pretendendo fazê-la funcionar sem a ajuda de ninguém: ou seja, dispunham-se a criar galinhas, sobreviver com a venda das aves, e, além disso, arranjar uma vaca e criar um ou dois novilhos. Infelizmente, as coisas não lhes correram bem.
Banford era pequena, magra, uma figurinha delicada com uns óculos. Contudo, era a principal investidora, já que March pouco ou nenhum dinheiro tinha. O pai de Banford, que era negociante em Islington, deu à filha uma ajuda inicial, primeiro a pensar na sua saúde e depois porque a amava, além de que não lhe parecia provável que ela algum dia se viesse a casar. March era mais robusta. Aprendera carpintaria e marcenaria em Islington, num curso nocturno que aí frequentara. Seria ela o homem da casa. Além do mais, o velho avô de Banford viveu com elas nos primeiros tempos. Outrora, tinha sido lavrador. Mas, infelizmente, o velho morreu passado um ano de estar com elas em Bailey Farm. E então as duas raparigas ficaram sozinhas.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/O_RAPOSO.jpg
Nenhuma delas era nova: isto é, andavam à volta dos trinta. Mas é claro que não eram velhas. E meteram mãos à obra com grande coragem. Tinham inúmeras galinhas, Leghorns pretas e brancas, Plymouths e Wyandots; também tinham alguns patos e duas vitelas nos campos de pastagem. Infelizmente, uma delas recusou-se em absoluto a permanecer nos cercados de Bailey Farm. Fosse como fosse que March fizesse as vedações, a vitela arranjava sempre forma de fugir, correndo, selvagem, pelos bosques ou invadindo as pastagens vizinhas, pelo que March e Banford andavam sempre por fora, a correr atrás dela com mais cansaço do que sucesso. Assim, desesperadas, acabaram por vender a vitela. E precisamente antes de o outro animal estar para ter o seu primeiro vitelo, o velho morreu, pelo que as raparigas, receosas do parto iminente, o venderam em pânico, limitando doravante as suas atenções às galinhas e aos patos.
A despeito de um certo pesar, não deixou de ser um alívio não terem de cuidar de mais gado. A vida não servia apenas para ser passada a trabalhar. Ambas as raparigas concordavam neste ponto. As aves já eram preocupação
8
que chegasse. March instalara a sua bancada de carpinteiro ao fundo do telheiro. E aí trabalhava, fazendo armações de galinheiro, portas e outros elementos. As aves tinham sido colocadas no edifício maior, o qual servira outrora de celeiro e estábulo. Tinham uma casa magnífica, pelo que deveriam estar bastante satisfeitas. Na verdade, pareciam bastante bem. Mas as raparigas andavam aborrecidas com a tendência das aves para apanharem estranhas doenças, com a exasperante exactidão do seu modo de vida e com a sua recusa, recusa constante, obstinada, em porem ovos.
March fazia a maior parte do trabalho não doméstico. Quando estava por fora, nas suas andanças, vestida com umas grevas e uns calções, com o seu casaco cintado e um boné largo, quase que parecia um qualquer rapaz, ar agradável, porte indolente, bamboleante, devido aos seus ombros direitos e aos movimentos fáceis, confiantes, com alguns laivos até de indiferença ou ironia. Contudo, o seu rosto não era um rosto de homem. Quando curvada, o cabelo, negro e encaracolado, esvoaçava em madeixas à sua volta; quando direita, voltando a olhar em frente, havia nos seus olhos negros, olhos grandes, arregalados, um brilho estranho, misto de espanto,
timidez e sarcasmo ao mesmo tempo. E também a boca se mostrava crispada, como que por dor ou ironia. Havia nela qualquer coisa de estranho, de inexplicável. Podia quedar-se apoiada numa só anca, observando as aves que perambulavam pela lama fina, repugnante, do pátio em declive, chamando depois a sua galinha favorita, uma galinha branca que respondia pelo nome, vindo a saltitar até junto dela. Mas havia uma espécie de lampejo satírico nos grandes olhos negros de March quando fitava aqueles seres de três dedos que andavam de cá para lá sob o seu olhar atento, notando-se na voz o mesmo tom de ameaça irónica sempre que falava com Patty, a favorita, a qual bicava a bota de March numa amigável demonstração de amizade.
Mas, apesar de tudo o que March fazia por elas, as aves não eram uma criação florescente em Bailey Farm. Quando, de acordo com os regras, começou a dar-lhes comida quente pela manhã, reparou que esta fazia com que ficassem pesadas e sonolentas durante horas. Ela quedava-se, expectante, vendo-as encostadas aos pilares do barracão durante o seu lento processo digestivo. E sabia muito bem que elas deviam andar atarefadas a esgravatar e a debicar por aqui e por ali, isto para haver esperanças de virem a tornar-se de alguma valia. Assim, decidiu passar a dar-lhes a comida quente só à noite, deixando que a digerissem durante o sono. E assim fez. Só que isso não surtiu qualquer efeito.
Por outro lado, os tempos de guerra em que viviam eram bastante desfavoráveis à criação de aves. A comida era escassa e má. E quando o Daylight Saving Bill1 entrou em vigor, as aves recusaram-se obstinadamente a ir dormir à hora habitual, por volta das nove no tempo de Verão. E, na verdade, isso já era bastante tarde, pois até elas estarem recolhidas e a dormir era impossível ter-se paz. Agora, andavam animadamente às voltas por ali, limitando-se de quando em vez a relancear os olhos para o celeiro, isto até por volta das dez horas ou mais. Mas tanto Banford como March discordavam de que a vida fosse só para trabalhar. Gostariam de ter tempo para ler ou para andar de bicicleta à tardinha, ou talvez mesmo March desejasse poder pintar cisnes curvilíneos em porcelanas de fundo verde ou fazer maravilhosos guarda-fogos através de processos do domínio da alta técnica da marcenaria. Pois ela era uma criatura cheia de estranhas fantasias e tendências insatisfeitas. Mas as estúpidas das aves impediam-na de tudo isso.
E havia um mal bem pior que tudo o resto. Bailey Farm era uma pequena fazenda com um velho celeiro de madeira e uma casa baixa, de telhado de empena, apenas separada da orla do bosque por um pequeno campo. Ora, desde a guerra que rondava por ali um raposo, raposo que se revelara um autêntico demónio. Apoderava-se das galinhas mesmo debaixo do nariz de March e Banford. Banford bem podia sobressaltar-se e olhar atentamente através dos seus grandes óculos, os olhos muito arregalados, ao levantar-se a seus pés um novo alvoroço de grasnidos, cacarejos e adejar de asas. Demasiado tarde! Outra galinha branca que se fora, outra Leghorn perdida. Era, de facto, desencorajador.
Elas fizeram o que puderam para remediar o caso. Quando chegou a época da caça às raposas, ambas passaram a postar-se de sentinela com as suas espingardas, escolhendo as horas preferidas pelo rapinante. Mas isso de nada lhes valeu. O raposo era demasiado rápido para elas. E assim se passou mais um ano, depois outro, enquanto elas continuavam a viver dos prejuízos, como Banford dizia. Um Verão, alugaram a sua casa da quinta e foram viver para um vagão ferroviário existente numa das extremidades do campo, ali deixado para servir como uma espécie de barracão de arrecadações. Isto divertiu-as, além de as ajudar a pôr as finanças em ordem. Não obstante, as coisas continuavam feias.
Ainda que continuassem a ser as melhores amigas do mundo, já que Banford, apesar de nervosa e de delicada, era uma alma quente e generosa, e March, apesar de parecer tão estranha e ausente, sempre tão concentrada em si mesma, se revelava dotada de uma curiosa magnanimidade, começaram, contudo, a descobrir, naquela longa solidão, uma certa tendência para se irritarem uma com a outra, para se cansarem uma da outra. March tinha quatro quintos do trabalho a seu cargo, e, apesar de não se importar, nunca conseguia ter descanso, pelo que nos seus olhos havia, por vezes, um curioso relampejar. Então, se Banford, sentindo os nervos mais esgotados do que nunca, tivesse um ataque de desespero, March falar-lhe-ia com rispidez. De algum modo, pareciam estar a perder terreno, a perder a esperança à medida que os meses iam passando. Ali sozinhas nos campos junto ao bosque, com toda aquela vasta região estendendo-se, profunda e sombria, até às colinas arredondadas do White Horse, perdidas na distância, pareciam ter de viver demasiado desligadas de si mesmas. Não havia nada que as animasse. E não havia esperança.
O raposo punha-as realmente exasperadas. Assim que deixavam as aves sair, ao alvorecer dos dias de Verão, tinham de ir buscar as armas e de ficar de guarda; e tinham de voltar ao mesmo assim que o entardecer se avizinhava, retomando os seus postos de sentinela. E ele era tão manhoso, tão dissimulado! Rastejava ao longo da erva alta, tão difícil de ver como uma serpente. Parecia mesmo evitar deliberadamente as raparigas. Uma ou duas vezes, March conseguira vislumbrar-lhe a ponta branca da cauda, por vezes mesmo a sua sombra avermelhada por entre a erva alta, e disparara sobre ele. Mas o raposo não ligara nenhuma ao sucedido.
Uma tarde, March estava de costas contra o sol, já a pôr-se no horizonte, com a arma debaixo do braço e o cabelo oculto sob o boné. Estava meio vigilante, meio absorta, perdida nos seus pensamentos. Aliás, tal estado era em si uma constante. Tinha os olhos abertos e vigilantes, mas lá bem no fundo da mente não tomava consciência daquilo que estava a ver. Deixava-se sempre cair neste estranho estado de alheamento, a boca ligeiramente crispada. Era um problema saber se estava realmente ali, de consciência desperta para o presente, ou muito longe daqueles locais.
As árvores na orla do bosque, de um verde--acastanhado, surgiam como uma mancha escura ressaltando à luz crua do dia; estava-se em fins de Agosto. Ao fundo, os tons acobreados dos troncos e ramos nus dos pinheiros refulgiam no ar. Mais perto, a erva selvagem, com os seus longos caules acastanhados e rebrilhantes, estava toda banhada de claridade. As galinhas andavam por ali, enquanto os patos estavam ainda a nadar na lagoa por debaixo dos pinheiros. March olhava para tudo aquilo, via tudo aquilo sem realmente se dar conta de nada. Ouviu Banford a falar às galinhas, lá ao longe, mas foi como se não ouvisse. Em que pensava? Só Deus o sabe. Como sempre, a sua consciência estava longe, ficara para trás.
Acabara de baixar os olhos quando, de repente, viu o raposo. E este estava a olhar para ela. Tinha o focinho descaído e os olhos levantados, fitando o espaço à sua frente. Então, os seus olhares encontraram-se. E ele reconheceu-a. Ela estava fascinada, como que enfeitiçada, sabendo que ele a reconhecia. Ele olhou-a bem dentro dos olhos e ela sentiu-se desfalecer, como se a alma lhe fugisse. Ele reconhecia-a, por isso não tinha medo.
Mas ela esforçou-se por reagir, recobrando confusamente o domínio de si mesma, enquanto o via afastar-se, aos saltos por sobre alguns ramos caídos, saltos lentos, vagarosos, descarados. Então, virando a cabeça, ele voltou a mirá--la mais uma vez e desapareceu depois numa corrida pausada, suave. Ela ainda lhe viu a cauda erguida, ondulando leve como uma pena, assim como as manchas brancas dos quadris, cintilando na distância. E assim se foi, suavemente, tão suave como o vento.
Ela levou então a arma ao ombro, e mais uma vez franziu os lábios num esgar, sabendo que era um disparate tentar disparar. Assim, começou a segui-lo devagar, avançando na direcção que ele tomara, lenta, obstinadamente. Tinha esperanças de o encontrar. No mais íntimo de si mesma, estava decidida a encontrá-lo. Não pensou naquilo que faria quando o voltasse a ver, mas estava decidida a encontrá-lo. E assim andou muito tempo pela orla do bosque, absorta, perdida, os olhos negros muito vivos, muito abertos, um ligeiro rubor nas faces quentes. Ia sem pensar. Numa estranha apatia, o cérebro vazio, vagueou de cá para lá.
Por fim, deu-se conta de que Banford estava a chamá-la. Esforçando-se por despertar, tentou dar atenção e, voltando-se, soltou uma espécie de grito à laia de resposta. E retomou então o caminho da fazenda, avançando a grandes passadas. O sol estava já a pôr-se, num brilho rubro, e as galinhas começaram a recolher aos poleiros. Ela olhou-as, um bando de criaturas pretas e brancas aglomerando-se junto ao celeiro. Como que enfeitiçada, olhou--as sem as ver. Mas a sua inteligência automatizada preveniu-a da altura em que devia fechar a porta.
Foi então para dentro, preparando-se para cear, pois Banford já pusera a comida na mesa. Banford tagarelava com grande à vontade. March fingia ouvi-la na sua maneira distante, varonil, dando lacónicas respostas de quando em vez. Mas esteve o tempo todo como debaixo de um sortilégio. E assim que a refeição acabou, voltou a levantar-se para sair, fazendo-o sem sequer dizer porquê. Levou outra vez a arma e foi em busca do raposo. Pois ele levantara os olhos para ela, ele reconhecera-a, e isso parecia ter-lhe penetrado o cérebro, dominando-a. Não pensava muito nele: estava possuída por ele. Ela reviu os seus olhos escuros, astutos, impassíveis, fitando-a lá bem no fundo, desvendando-a, olhos de quem sabia conhecê-la. E sentiu que ele possuía um domínio invisível sobre o seu espírito. Relembrou o modo como ele baixara a queixada ao olhar para ela, reviu-lhe o focinho, o castanho dourado, o branco acinzentado. E voltou a vê-lo virar a cabeça, o olhar furtivo que lhe deitou, meio convidativo, meio desdenhoso, algo atrevido também. E por isso foi, os grandes olhos espantados e cintilantes, a espingarda debaixo do braço, andando de cá para lá na orla do bosque. Entretanto, caiu a noite, pelo que uma lua enorme, redonda, começou a erguer-se por detrás dos pinheiros. Então, Banford voltou a chamá-la.
Assim, ela voltou para casa. Estava silenciosa, atarefada. Examinou e limpou a arma, perdida em abstractos devaneios, a mente divagando à luz da lâmpada. E depois voltou a sair, ao luar, para ver se estava tudo em ordem. Mas quando viu as cristas negras dos pinheiros recortadas no céu sanguíneo, o coração acelerou-se-lhe, de novo batendo pelo raposo, sempre pelo raposo. E teve vontade de retomar a sua busca, de espingarda na mão.
Passaram alguns dias antes de ela mencionar o caso a Banford. Então, uma tarde, disse de súbito:
- Na noite de sábado passado, o raposo esteve mesmo ao pé de mim.
- Onde? - disse Banford, abrindo muito os olhos por detrás dos óculos.
- Quando estava ao pé da lagoa.
- Deste-lhe um tiro? - gritou Banford.
- Não, não dei.
- Porque não?
- Bem, suponho que fiquei demasiado surpreendida, só isso.
Era esta a velha maneira de falar que March sempre tivera, lenta e lacónica. Banford observou a amiga por alguns instantes.
- Mas viste-lo? - exclamou ela.
- Claro que sim! Ele estava a olhar para mim, impávido e sereno, como se não fosse nada com ele.
- Não me digas! - gritou Banford. - Que descaramento! Não têm medo nenhum de nós, Nellie, é o que te digo.
- Lá isso não - disse March.
- Só é pena que não lhe tenhas dado um tiro - acrescentou Banford.
- Sim, é pena! Desde então que tenho andado à procura dele. Mas não creio que volte a aproximar-se tanto da próxima vez.
- Sim, também acho - concordou Banford. E esforçou-se por esquecer o caso, apesar de se sentir mais indignada do que nunca com o atrevimento daqueles ratoneiros. March também não tinha consciência de andar a pensar no raposo. Mas sempre que caía em meditação, sempre que ficava meio absorta, meio consciente daquilo que tinha lugar sob os seus olhos, então era o raposo que, de algum modo, lhe dominava o inconsciente, apossando-se da sua mente errante, disponível. E foi assim durante semanas, durante meses. Não interessava que estivesse a trepar às macieiras, a apanhar as últimas ameixas, a cavar o fosso da lagoa dos patos, a limpar o celeiro, pois quando se endireitava, quando afastava da testa as madeixas de cabelo, voltando a franzir a boca daquela forma estranha, crispada, que lhe era habitual, dando-lhe um ar demasiado envelhecido para a idade, era mais do que certo voltar a sentir o espírito dominado pelo velho apelo do raposo, tão vivo e intenso como quando ele a olhara. Nessas ocasiões, era quase como se conseguisse sentir-lhe o cheiro. E isso acontecia-lhe sempre nos momentos mais inesperados, quer à noite quando estava para se ir deitar, quer quando deitava água no bule para fazer chá: lá estava o raposo, dominando-a com o seu fascínio, enfeitiçando-a, subjugando-a.
E assim se passaram alguns meses. Inconscientemente, ela continuava a ir à procura dele sempre que se encaminhava para os lados do bosque. Ele tornara-se-lhe num estigma, numa impressão obsessiva, num estado de espírito permanente, não contínuo mas recorrente, em constante afluxo. Não sabia aquilo que sentia ou pensava: pura e simplesmente, um tal estado invadia-a, dominava-a, tal e qual como quando ele a olhara.
Os meses foram passando, chegaram as noites escuras, pesadas, chegou Novembro, sombrio, ameaçador, época em que March andava de botas altas, os pés mergulhados na lama até ao tornozelo, tempo em que às quatro horas já era de noite, em que o dia nunca chegava propriamente a nascer. Ambas as raparigas temiam aquele tempo. Temiam a escuridão quase contínua que as rodeava, sozinhas na sua pequena quinta junto ao bosque, triste e desolada. Banford tinha medo, um medo físico, concreto. Tinha medo dos vagabundos, receava que alguém pudesse aparecer por ali a rondar. March não tinha tanto medo, era mais uma sensação de desconforto, de turbação. Sentia por todo o corpo como que um constrangimento, uma melancolia, e isso, sim, também a afectava fisicamente.
Usualmente, as duas raparigas tomavam chá na sala de estar. Ao anoitecer, March acendia a lareira, deitando-lhe a madeira que cortara e serrara durante o dia. Tinham então pela frente a longa noite, sombria, húmida, escura lá fora, solitária e um tanto opressiva portas adentro, algo lúgubre mesmo. March preferia não falar, mas Banford não podia estar calada. Bastava-lhe ouvir o vento silvando lá fora por sobre os pinheiros ou o simples gotejar da chuva para ficar com os nervos arrasados.
Uma noite, depois de tomarem chá e lavarem as chávenas na cozinha, retornaram à sala. March pôs os seus sapatos de trazer por casa e pegou no trabalho de croché, coisa que fazia de vez em quando com grande lentidão. Depois, quedou-se silenciosa. Banford ficou diante da lareira, olhando o fogo rubro, pois este, sendo de lenha, exigia uma constante atenção. Estava com receio de começar a ler demasiado cedo, já que os seus olhos não suportavam grandes esforços. Assim, sentou-se a olhar o fogo, ouvindo os sons perdidos na distância, o mugido do gado, o monótono soprar do vento, pesado e húmido, o estrépito do comboio da noite na pequena linha férrea não muito longe dali. Começava a estar como que fascinada pelo fulgor sanguíneo do fogo que ardia.
Subitamente, ambas as raparigas se sobressaltaram, erguendo os olhos. Tinham ouvido passos, passos distintos, nítidos, sem margem para dúvidas. Banford encolheu-se toda com medo. March levantou-se e pôs-se à escuta. Depois, dirigiu-se rapidamente para a porta que dava para a cozinha. Precisamente nessa altura, ouviram os passos aproximarem-se da porta das traseiras. Esperaram uns instantes. Então, a porta abriu-se lentamente. Banford deu um grande grito. Depois, uma voz de homem disse em tom suave:
- Viva!
March recuou e pegou na espingarda encostada a um canto.
- O que é que quer? - gritou em voz aguda. E o homem voltou a falar na sua voz simultaneamente vibrante e suave:
- Ora viva! Há algum problema?
- Olhe que eu disparo! - gritou March. - O que é que quer?
- Mas porquê, qual é o problema? - respondeu ele, no mesmo tom brando, interrogativo, algo assustado agora. E um jovem soldado, com a pesada mochila às costas, penetrou na luz baça da sala. E disse então: - Ora esta! Mas então quem é que vive aqui?
- Vivemos nós - disse March. - O que é
que quer?
- Oh! - exclamou o jovem soldado, uma leve nota de dúvida na sua voz arrastada, melodiosa. - Então William Grenfel já não mora aqui?
- Não, e você bem sabe que não.
- Acha que sei? Bem vê que não. Mas ele viveu aqui, pois era meu avô, e eu mesmo vivia aqui há cinco anos atrás. Afinal, que foi feito dele?
O homem - ou melhor, o jovem, pois não devia ter mais de vinte anos - adiantara-se agora um pouco mais estando já do lado de dentro da porta. March, já sob a influência daquela voz, estranhamente branda, quedou-se, fascinada, a olhar a olhar para ele. Tinha um rosto redondo, avermelhado, com cabelos louros um tanto compridos colados à testa pelo suor. Os olhos eram azuis, muito vivos. Nas faces, sobre a pele fresca e avermelhada, florescia uma fina barba loura, quase como que uma penugem, mais espessa, dando-lhe um ar vagamente resplandecente. Com a pesada mochila às costas, estava algo inclinado, a cabeça atirada para a frente. Tinha o bivaque pendente de uma das mãos. Com olhos vivos e penetrantes, fitava ora uma ora outra das raparigas, e especialmente March, que permanecia de pé, muito pálida, os grandes olhos arregalados, de casaco cintado e grevas, o cabelo atado atrás num grande bando encrespado por sobre a nuca. Continuava de arma na mão. Atrás dela, Banford, agarrada ao braço do sofá, estava toda encolhida, a cabeça meio voltada como quem se preparava para fugir.
- Pensei que o meu avô ainda avô ainda aqui vivesse. Será que já morreu?
- Estamos aqui há três anos - disse Banford, a qual parecia estar agora a recobrar a presença de espírito, talvez por se aperceber de algo de pueril naquela face redonda, de cabelos compridos e suados.
- Três anos! Não me digam! E não sabem quem vivia aqui antes de vocês?
- Só sei que era um velho que vivia sozinho.
- Ah! Então era ele! E o que é que lhe aconteceu?
- Morreu. Só sei que morreu.
- Ah! Então é isso, morreu!
O jovem fitava-as sem mudar de cor ou expressão. E se havia no seu rosto qualquer expressão, para além de um ar ligeiramente confuso, interrogativo, isso devia-se a uma forte curiosidade relativamente às duas raparigas. Mas a
curiosidade daquela jovem cabeça arredondada, apesar de viva e penetrante, era uma curiosidade impessoal, objectiva, fria.
Porém, para March ele era o raposo. Se tal se devia ao facto de ter a cabeça deitada para a frente, ao brilho da fina barba prateada em torno dos malares róseos ou aos olhos vivos e brilhantes, não seria possível dizê-lo; contudo, para ela o rapaz era o raposo e era-lhe impossível vê-lo de outro modo.
- Como é possível que não soubesse se o seu avô estava vivo ou morto? - perguntou Ban-ford, recuperando a sua habitual sagacidade.
- Ah, pois, aí é que está - respondeu o jovem, com um leve suspiro. - Sabe, é que eu alistei-me no Canadá e já não tinha notícias dele há três ou quatro anos... Fugi para lá a fim de me alistar.
- E acabou agora de chegar de França?
- Bem... Não propriamente, pois, na verdade, vim de Salónica.
Houve uma pausa, ninguém sabendo ao certo o que dizer.
- Então agora não tem para onde ir? - disse Banford, algo desajeitadamente.
- Oh, conheço algumas pessoas na aldeia. E, de qualquer forma, sempre posso ir para a Estalagem do Cisne.
- Veio de comboio, suponho. Não quer descansar um bocado?
- Bom, confesso que não me importava nada.
Ao desfazer-se da mochila, emitiu um estranho suspiro, quase que um queixume. Banford olhou para March.
- Ponha aí a arma - disse. - Nós vamos fazer um pouco de chá.
- Ah, sim! - concordou o jovem. - Já vimos demasiadas espingardas.
Sentou-se então no sofá com um certo ar de cansaço, o corpo todo inclinado para a frente.
March, recuperando a presença de espírito, dirigiu-se para a cozinha. Aí chegada, ouviu o jovem monologando na sua voz suave:
- Ora quem diria que havia de voltar e vir encontrar isto assim!
Não parecia nada triste, absolutamente nada; tão-só um tanto ou quanto surpreso e interessado ao mesmo tempo.
- E como tudo isto está diferente, hem? - continuou, relanceando o olhar pela sala.
- Acha que está diferente, é? - disse Banford.
- Se está!... Isso salta à vista...
Os seus olhos eram invulgarmente claros e brilhantes, ainda que tal brilho mais não fosse do que mero reflexo de uma saúde de ferro.
Na cozinha, March andava de cá para lá, preparando outra refeição. Eram cerca de sete horas da tarde. Durante todo o tempo em que esteve ocupada, nunca deixou de prestar atenção ao jovem sentado na saleta, não tanto a ouvir aquilo que este dizia como a sentir o fluir suave e brando da sua voz. Comprimiu os lábios, apertando-os mais e mais, a boca tão cerrada como se estivesse cosida, numa tentativa para manter o domínio de si mesma. Contudo, sem que o pudesse evitar, os seus grandes olhos dilatavam-se, brilhantes, pois perdera já o seu autocontrole. Rápida e descuidadamente, preparou a refeição, cortando grandes fatias de pão e barrando-as com margarina, pois manteiga era coisa que não tinham. Deu voltas à cabeça a pensar no que mais poderia pôr no tabuleiro, já que só tinha pão, margarina e geleia na despensa quase vazia. Incapaz de descobrir fosse o que fosse, dirigiu-se para a sala com o tabuleiro.
Ela não queria chamar as atenções. E, acima de tudo, não queria que ele a olhasse. Mas quando entrou, atarefada a pôr a mesa por detrás dele, ele endireitou-se, espreguiçando--se, e voltou-se para olhar por cima do ombro. Ela empalideceu, sentiu-se quase desfalecer.
O jovem observou-a, debruçada sobre a mesa, olhou-lhe as pernas finas e bem feitas, o casaco cintado flutuando-lhe sobre as coxas, o bandó de cabelos negros, e mais uma vez a sua curiosidade viva e sempre alerta se deixou prender por ela.
A lâmpada estava velada por um quebra-luz verde-escuro, de modo que a luz incidia de cima para baixo, deixando a parte superior da sala envolta na penumbra. O rosto dele movia-se, brilhante, à luz do candeeiro, enquanto March surgia como uma figura difusa, perdida na distância.
Ela virou-se, mas manteve a cabeça de lado, os olhos piscando, rápidos, sob as pestanas negras. Descerrando os lábios, disse então a Banford:
- Não queres servir o chá? Depois, regressou à cozinha.
- Não quer tomar o chá onde está? - disse Banford para o jovem. - A menos que prefira vir para a mesa - acrescentou.
- Bom, sinto-me aqui muito bem, confortavelmente instalado. Se não se importa, prefiro tomá-lo aqui mesmo - respondeu ele.
- Só temos pão e geleia - disse então ela. E pôs-lhe o prato à frente, pousando-o num escabelo. Sentia-se bastante feliz por ter alguém a quem servir, pois adorava companhia. E agora já não tinha medo dele, encarava-o quase como se fosse o seu irmão mais novo, tão criança ele lhe parecia.
- Nellie! - gritou. - Tens aqui a tua chávena.
March surgiu então à entrada da porta, aproximou-se, pegou na chávena e foi-se sentar a um canto, tão longe da luz quanto possível. Sendo muito susceptível quanto aos joelhos, e dado não ter qualquer saia com que os cobrisse, sofria pelo facto de ter de estar assim sentada com eles tão ousadamente em evidência. Assim, encostou-se toda para trás, encolhendo-se o mais que pôde, na tentativa de não ser vista. Mas o jovem, preguiçosamente estirado no sofá, fitava-a com uma tal insistência, os olhos firmes e penetrantes, que ela quase desejou poder desaparecer. No entanto, manteve a chávena direita enquanto bebia o chá, de lábios apertados e cabeça virada. O seu desejo de passar despercebida era tão forte que quase intrigou o rapaz, pois ele sentia que não conseguia vê-la com nitidez. Ela mais parecia uma sombra entre as sombras que a rodeavam. E os seus olhos acabavam sempre por voltar a ela, inquiridores, persistentes, atentos, com uma fixidez quase inconsciente.
Enquanto isso, na sua voz calma e suave, ele conversava com Banford, para quem a tagarelice era tudo no mundo, além de ser dotada de uma aguda curiosidade, qual pássaro saltitante catando aqui e ali. Por outro lado, ele comeu desalmadamente, rápido e voraz, pelo que March teve de ir cortar mais fatias de pão com margarina, por cujo preparo grosseiro Banford se desculpou.
- Oh, tens cada uma! - disse March, saindo repentinamente do seu mutismo. - Se não temos manteiga para lhes pôr, não vale a pena preocuparmo-nos com a elegância das fatias.
O jovem voltou a olhá-la e, subitamente, riu-se, com um riso rápido, sacudido, mostrando assim os dentes sob o nariz franzido.
- Lá isso é verdade - respondeu ele, na sua voz suave, insinuante.
Parece que era da Cornualha, nado e criado aí. Ao fazer doze anos, viera para Bailey Farm com o avô, com o qual nunca se dera muito bem. Assim, tivera de fugir para o Canadá, tendo passado a trabalhar longe, no Oeste. Agora voltara e ali estava, eis toda a sua história.
Mostrava-se muito curioso quanto às raparigas, pretendendo saber exactamente em que é que se ocupavam. As questões que lhes punha eram típicas de um jovem fazendeiro: argutas, práticas e um tanto trocistas. Parecia ter ficado muito divertido com a atitude delas face aos prejuízos, pois achava-as particularmente cómicas quanto ao caso das vitelas e das aves.
- Oh, bem vê - interrompeu March -, nós não concordamos em viver só para trabalhar.
- Ah, não? - respondeu. De novo o rosto se lhe iluminou num sorriso pronto e jovial. E o seu olhar, firme e insistente, voltou a cravar-se na mulher sentada ao canto, na obscuridade.
- Mas o que pensam fazer quando o vosso capital chegar ao fim? - indagou.
- Oh, isso não sei - retorquiu March, laconicamente. - Oferecermo-nos para trabalhar nos campos, suponho eu.
- Sim, mas não deve haver assim grande procura de mulheres para trabalhar no campo, agora que a guerra acabou - volveu o jovem.
- Oh, isso depois se vê. Ainda nos poderemos aguentar durante mais algum tempo - retorquiu March, num tom de indiferença algo plangente, meio triste, meio irónico.
- Faz aqui falta um homem - disse o jovem suavemente. Banford desatou a rir, soltando uma gargalhada.
- Veja lá o que diz - interrompeu ela. - Nós consideramo-nos muito capazes.
- Oh! - disse March, na sua voz arrastada e dolente. - Receio bem que não seja um simples caso de se ser ou não capaz. Quem se quiser dedicar à lavoura, terá de trabalhar de manhã à noite, quase que terá mesmo de se animalizar.
- Sim, estou a ver - respondeu o jovem. - E vocês não querem meter-se nisso de pés e mãos.
- Não, não queremos - disse March - e temos consciência disso.
- Queremos ficar com algum tempo para nós mesmas - acrescentou Banford.
O jovem recostou-se no sofá, tentando conter o riso, um riso silencioso mas que o dominava completamente. O calmo desdém das raparigas deixava-o profundamente divertido.
- Está bem - volveu ele - mas então porque começaram com isto?
- Oh! - retorquiu March. - Acontece que antes tínhamos uma melhor opinião da natureza das galinhas do que a que temos agora.
- Creio bem que de toda a Natureza - disse Banford. - E digo-lhes mais: nem me falem da Natureza!
Mais uma vez o rosto do jovem se contraiu num riso delicado.
- Vocês não têm lá grande opinião de galinhas e de gado, pois não? - disse então ele.
- Oh, não! - disse March. - E até bastante pequena.
O jovem, não conseguindo conter-se, soltou uma sonora gargalhada.
- Nem de galinhas, nem de vitelos, nem de cabras, nem do tempo - rematou Banford.
O jovem irrompeu então num riso rápido, convulsivo, explodindo em divertidas gargalhadas. As raparigas começaram também a rir. March, virando o rosto, franziu a boca num esgar, um riso contido sob os lábios cerrados.
- Bom - disse Banford -> mas não nos ralamos muito com isso, pois não, Nellie?
- Não - disse March -> não nos ralamos. O jovem sentia-se ah muito bem. Comera e bebera bastante, saciara-se até estar cheio. Banford começou a interrogá-lo. Chamava-se Henry Grenfel. Não, Harry não, chamavam--lhe sempre Henry. E continuou a responder de um modo simples, cortês, num tom simultaneamente solene e encantador. March, que não participava no diálogo, olhava-o lenta e demoradamente do seu refúgio do canto, con-templando-o ali sentado no sofá, de mãos espalmadas nos joelhos, o rosto batido pela luz do candeeiro enquanto, virado para Banford, lhe dava toda a sua atenção. Por fim, quase que se sentia calma, em paz. Ela identificara-o com o raposo e ali estava ele, presença física, viva, integral. Já não precisava de andar atrás dele, de ir à sua procura. Perdida na sombra do seu canto, sentiu-se tomada de uma paz quente, relaxante, quase como se o sono a invadisse, aceitando aquele encantamento que a habitava. Mas desejava continuar oculta, despercebida. Só se sentia totalmente em paz enquanto ele continuasse a ignorá-la, conversando com Banford. Oculta na sombra do seu canto, já não tinha razão para se sentir dividida, para tentar manter vivos dois planos de consciência. Podia finalmente mergulhar por inteiro no odor do raposo.
Pois o jovem, sentado junto à lareira dentro do seu uniforme, enchia a sala de um odor simultaneamente vago mas distinto, um tanto indefinível mas algo semelhante ao de um animal selvagem. March não mais tentou escapar-lhe. Mantinha-se calma e submissa no seu canto, tão quieta e passiva como um qualquer animal na sua toca.
Finalmente, a conversa começou a esmorecer. O jovem, tirando as mãos dos joelhos, endireitou-se um pouco e olhou em volta. E de novo tomou consciência daquela mulher silenciosa, quase invisível no seu canto.
- Bom - disse, algo contrariado -> suponho que é melhor ir andando ou quando chegar ao Cisne já estão todos deitados.
- De qualquer modo, receio que já estejam todos na cama - disse Banford. - Parece que apanharam essa gripe que anda para aí.
- Ah, sim?! - exclamou ele. E ficou alguns instantes pensativo. - Bem - continuou -, em algum lado hei-de arranjar onde ficar.
- Eu ia dizer para cá ficar, só que... - começou Banford.
Virando-se então, ele olhou-a, a cabeça atirada para a frente.
- Como? - perguntou.
- Quero eu dizer, as convenções, sei lá... - explicou ela. Parecia um bocado embaraçada.
- Não seria muito próprio, não é assim? - disse ele, num tom surpreso mas gentil.
- Não pela nossa parte, é claro - respondeu Banford.
- E não pela minha - retorquiu ele, com ingénua gravidade. - Ao fim e ao cabo, de certa forma esta continua a ser a minha casa.
Banford sorriu ao ouvi-lo.
- Trata-se antes do que a aldeia poderá dizer - observou.
Houve uma ligeira pausa.
- O que é que achas, Nellie? - perguntou Banford.
- Eu não me importo - respondeu March no seu tom habitual, nítido e claro. - E, de qualquer forma, a aldeia não me interessa para nada.
- Ah, não? - disse o jovem, em voz rápida mas suave. - Mas porque o fariam? Quer dizer, de que poderiam eles falar?
- Oh, isso! - volveu March, no seu tom lacónico, plangente. - Facilmente descobririam qualquer coisa. Mas não interessa aquilo que eles possam dizer. Nós sabemos cuidar de nós próprias.
- Sem qualquer dúvida - respondeu o jovem.
- Bom, então se quiser fique por aqui - disse Banford. - O quarto dos hóspedes está sempre pronto.
O rosto dele iluminou-se-lhe de prazer.
- Se têm a certeza de que não será um grande incómodo - observou ele naquele tom de suave cortesia que o caracterizava.
- Oh, não é incómodo nenhum - responderam as raparigas.
Sorrindo, satisfeito, ele olhava, ora para uma ora para outra.
- E mesmo muito agradável não ter de voltar a sair, não é verdade? - acrescentou, agradecido.
- Sim, suponho que sim - disse Banford.
March saiu para ir tratar do quarto. Banford estava tão satisfeita e solícita como se fosse o seu irmão mais novo quem tivesse voltado de França. Aquilo era tão gratificante para ela como se tivesse de cuidar dele, de lhe preparar o banho, de lhe tratar das coisas e tudo o resto. A sua generosidade e afectividade naturais tinham agora em que se aplicar. E o jovem estava deliciado com toda aquela fraternal atenção. Mas sentiu-se algo perturbado ao lembrar-se de que March, apesar de silenciosa, também estava a trabalhar para ele. Ela era tão curiosa, tão silenciosa e apagada. Quase que tinha a impressão de que ainda não a vira bem. E sentiu que até poderia não a reconhecer se se cruzassem na estrada.
Naquela noite, March teve um sonho perturbador, particularmente vivo e agitado. Sonhou que ouvia cantar lá fora, um cântico que não conseguia entender, um cântico que errava à volta da casa, vagueando pelos campos, perdendo-se na escuridão. Sentiu-se tão emocionada que teve vontade de chorar. Decidiu-se então a sair e, de repente, soube que era ele, soube que era o raposo quem assim cantava. Confundia-se com o trigo, de tão amarelo e brilhante. Ela então aproximou-se dele, mas o raposo fugiu, deixando de cantar. Contudo, parecia-lhe tão perto que quis tocá-lo. Estendeu a mão, mas, de súbito, ele arremeteu, mordendo-lhe o pulso, e no mesmo instante em que ela recuou, o raposo, virando-se para fugir, já a preparar o salto, bateu-lhe com a cauda na cara, dando a sensação de que esta estava em fogo, tão grande foi a dor que sentiu, como se a boca tivesse ficado ferida, queimada. E acordou com aquela horrível sensação de dor, quedando-se, trémula, como se se tivesse realmente queimado.
Contudo, na manhã seguinte, já só se lembrava dele como de uma vaga recordação. Levantando-se, pôs-se logo a tratar da casa para ir depois cuidar das aves. Banford fora até à aldeia de bicicleta na esperança de conseguir comprar alguma comida, pois era naturalmente hospitaleira. Mas, infelizmente, naquele ano de 1918 não havia muita comida à venda. Ainda em mangas de camisa, o jovem, saindo do quarto, foi até ao rés-do--chão. Era novo e sadio, mas como andava com a cabeça atirada para a frente, fazendo com que os ombros parecessem levantados e algo recurvos, dava a sensação de sofrer de uma ligeira curvatura da espinha. Mas devia ser apenas uma questão de hábito, um jeito que apanhara, pois era jovem e vigoroso. Enquanto as mulheres estavam a preparar o pequeno-almoço, lavou-se e saiu.
Andou por todo o lado, olhando e examinando tudo com a maior atenção. Comparou o actual estado da quinta com aquilo que ela antes fora, pelo menos até onde conseguia lembrar-se, fazendo depois um cálculo mental do efeito das mudanças. Foi ver as galinhas e os patos, avaliando das condições em que estavam; observou o voo dos pombos-bravos, extremamente numerosos, que passavam no céu por cima de si; viu a macieira e as maçãs que, por demasiados altas, March não conseguira apanhar; reparou numa bomba de sucção que elas tinham tomado de empréstimo, presumivelmente para esvaziarem a grande cisterna de água doce situada junto ao lado norte da casa.
- Tudo isto está velho e gasto, mas não deixa de ser curioso - disse às raparigas ao sentar-se para tomar o pequeno-almoço.
Sempre que reflectia em qualquer coisa, havia nos seus olhos um brilho simultaneamente inteligente e pueril. Não falou muito, mas comeu até fartar. March manteve o rosto de lado, os olhos desviados o tempo todo. E também ela, naquele princípio de manhã, não tinha clara consciência da presença dele, ainda que algo no brilho do caqui que ele envergava lhe lembrasse o cintilante esplendor do raposo do seu sonho.
Durante o dia, as raparigas andaram por aqui e por ali, entregues às suas tarefas. Quanto a ele, de manhã dedicou-se à caça, tendo morto a tiro um coelho e um pato--bravo que voava alto, para os lados do bosque. Isto representava um apreciável contributo, dado a despensa estar mais que vazia. Deste modo, as raparigas acharam que já pagara a despesa feita. Contudo, ele não disse nada quanto a ir-se embora. De tarde, foi até à aldeia, tendo voltado à hora do chá. Tinha no rosto arredondado o mesmo olhar vivo, penetrante, alerta. Pendurou o chapéu no cabide num pequeno movimento bamboleante. A avaliar pelo seu ar pensativo, tinha qualquer coisa em mente.
- Bom - disse às raparigas enquanto se sentava à mesa. - O que é que eu vou fazer?
- O que quer dizer com isso? - perguntou Banford.
- Onde é que eu vou arranjar na aldeia um lugar para ficar? - esclareceu ele.
- Eu cá não sei - disse Banford. - Onde é que pensa ficar?
- Bem... - respondeu ele, hesitante. - No Cisne estão todos com a tal gripe e no Grade e Arado têm lá os soldados que andam na recolha de feno para o exército. Além disso, na aldeia, já há dez homens e um cabo aboletados em casas particulares, ao que me disseram. Não sei lá muito bem onde é que irei achar uma cama.
E deixou o assunto à consideração das raparigas. Não parecia muito preocupado, estava até bastante calmo. March, sentada com os cotovelos pousados na mesa e o queixo entre as mãos, olhava-o meio absorta, quase sem se dar conta. De súbito, ele ergueu os seus olhos azul-escuros, fixando-os abstractamente nos de March. Ambos estremeceram, surpreendidos. E também ele se retraiu, esboçando um ligeiro recuo. March sentiu o mesmo clarão furtivo, sarcástico, saltar daqueles olhos brilhantes quando ele desviou o rosto, o mesmo fulgor astuto, conhecedor, dos olhos escuros do raposo. E, tal como acontecera com o raposo, sentiu que aquele olhar lhe trespassava a alma, penetrando-a de lado a lado. Como presa de viva dor ou em meio a um sono agitado, a boca crispou-se-lhe, os lábios contraíram-se.
- Bom, não sei... - dizia Banford. Parecia algo relutante, como se receasse que estivessem a querer enganá-la, a querer impor-lhe qualquer coisa. Olhou então para March. Mas, dada a sua fraca visão, sempre algo turvada, mais não viu no rosto da amiga do que aquele seu ar meio abstracto de sempre.
- Porque é que não dizes nada, Nellie? - perguntou.
Mas March mantinha-se silenciosa, olhos arregalados e errantes, enquanto o jovem, como que fascinado, a observava de olhos fixos.
- Vamos, diz qualquer coisa - insistiu Banford. E March virou então ligeiramente a cabeça, como que a tomar enfim consciência das coisas ou, pelo menos, a tentar fazê-lo.
- Mas que esperas tu que eu diga? - perguntou em tom automático.
- Dá a tua opinião - disse Banford.
- Tanto se me dá, é-me indiferente - respondeu March.
E novo silêncio se instalou. Qual língua de fogo, uma luz pareceu brilhar nos olhos do rapaz, penetrante como uma agulha.
- Pois a mim também - disse então Banford. - Se quiser, pode ficar por cá.
Acto contínuo, quase que involuntariamente, um sorriso perpassou pelo rosto do rapaz, uma súbita chama de astúcia a iluminá-lo. Baixando rapidamente a cabeça, escondeu-a então nas mãos e assim ficou, cabeça baixa, rosto oculto.
- Como disse, se quiser pode cá ficar. Faça como entender, Henry - rematou Banford.
Mas ele continuava sem responder, insistindo em permanecer de cabeça baixa. Por fim, ao erguer o rosto, havia neste um estranho brilho, como se naquele momento todo ele exultasse, enquanto observava March com olhos estranhamente claros, transparentes. Esta desviou o rosto, um ricto de dor na boca crispada, quase como se ferida, a consciência toldada, presa de confusa turvação.
Banford começou a sentir-se um pouco intrigada. Viu os olhos do jovem fitos em March, olhos firmes, decididos, quase que transparentes, o rosto iluminado por um sorriso imperceptível, mais adivinhado do que real. Ela não percebia como é que ele podia estar a sorrir, pois as suas feições afectavam uma imobilidade de estátua. Tal parecia provir do brilho, quase que do fulgor que dimanava da fina barba daquelas faces. Então, ele olhou finalmente para Banford, mudando sensivelmente de expressão.
- Não tenho dúvidas - disse, na sua voz suave, cortês - de que você é a bondade em pessoa. Mas é demasiada generosidade da sua parte. Bem sei que isso seria um grande incómodo para si.
- Corta um bocado de pão, Nellie - disse Banford, algo constrangida. E acrescentou: - Não é incómodo nenhum, pode ficar à vontade. É como se tivesse aqui o meu irmão a passar alguns dias. Ele é quase da sua idade.
- É demasiada bondade da sua parte - repetiu o rapaz. - Terei todo o gosto em ficar se estiver certa de que não incomodo.
- Não, não incomoda nada. Digo-lhe mais: é mesmo um prazer ter aqui alguém para nos fazer companhia - respondeu a bondosa Banford.
- E quanto a Miss March? - perguntou ele com toda a suavidade, olhando para ela. - Oh, por mim não há problema, está tudo bem - respondeu March num tom vago, abstracto.
O rosto radiante, ele quase esfregou as mãos de satisfação.
- Bom - disse -, nesse caso, terei todo o gosto em ficar, isto se me permitirem que pague a minha despesa e as ajude com o meu trabalho.
- Não precisa de pagar, isto aqui não é pensão - atalhou Banford.
Passado um dia ou dois, o jovem continuava na quinta. Banford estava encantada com ele. Sempre que falava, fazia-o de uma forma suave e cortês, nunca querendo monopolizar a conversa, preferindo antes ouvir aquilo que ela tinha para dizer e rindo-se depois com o seu riso rápido, sacudido, um tanto trocista por vezes. E ajudava-as de boa vontade no trabalho, pelo menos desde que este não fosse muito. Gostava mais de andar por fora, sozinho com a sua espingarda, sempre atento e observador, olhando para tudo com olhos de ver. Pois lia-se-lhe nos olhos ávidos uma insaciável curiosidade por tudo e todos, donde sentir-se mais livre quando o deixavam só, sempre meio escondido em observação, alerta e vigilante.
E era March quem mais gostava de observar, pois o seu estranho carácter intrigava-o e atraía-o ao mesmo tempo. Por outro lado, sentia-se seduzido pela sua silhueta esguia, pelo seu porte grácil, algo masculino. Sempre que a olhava, os seus olhos negros atingiam-no no mais íntimo de si mesmo, faziam-no vibrar de júbilo, despertavam em si uma curiosa excitação, excitação que receava deixar transparecer, tão viva e secreta ela era. E depois aquela sua estranha forma de falar, inteligente e arguta, dava-lhe uma franca vontade de rir. Naquele dia, sentiu que devia ir mais longe, que havia algo a impeli-lo irresistivelmente para ela. Contudo, afastando-a do pensamento, recalcou tais impulsos e saiu porta fora, dirigindo-se para a orla do bosque de espingarda na mão.
Estava já a anoitecer quando se decidiu a voltar para casa, tendo entretanto começado a cair uma daquelas chuvas finas de fins de Novembro. Olhando em frente, viu a luz da lareira bruxuleando por detrás dos vidros da janela da sala, tremular aéreo em meio ao pequeno aglomerado dos edifícios escuros.
E pensou para consigo que não seria nada mau ser dono daquele lugar. E então, insinuando-se maliciosamente, surgiu-lhe a ideia: e porque não casar com March? Totalmente dominado por aquela ideia, quedou-se algum tempo imóvel no meio do campo, o coelho morto pendendo-lhe da mão. Num fervilhar expectante, a sua mente trabalhava, reflectindo, ponderando, calculando, até que finalmente ele sorriu, uma curiosa expressão de aquiescência estampada no rosto. Pois porque não? Sim, realmente porque não? Até era uma boa ideia. Que importava que isso pudesse ser um tanto ridículo? Sim, que importância tinha isso? E que importava que ela fosse mais velha do que ele? Nada, absolutamente nada. E ao pensar nos seus olhos negros, olhos assustados, vulneráveis, sorriu maliciosamente para consigo. Na verdade, ele é que era mais velho do que ela. Dominava-a, era o seu senhor.
Mas até mesmo a seus olhos lhe custava a admitir tais intenções, até mesmo para si estas continuavam secretas, ocultas algures num qualquer surdo recesso da mente. Pois, de momento, ainda era tudo muito incerto. Teria de aguardar o desenrolar dos acontecimentos, ver qual a sua evolução. Sim, tinha de ser paciente. Se não fosse cuidadoso, arriscava-se a que ela, pura e simplesmente, escarnecesse de uma tal hipótese. Pois ele sabia, astuto e sagaz como era, que se fosse ter com ela para lhe dizer assim de chofre: "Miss March, amo-a e quero casar consigo", a resposta dela seria inevitavelmente: "Desapareça. Não quero saber dessas palermices." Seria certamente essa a sua atitude para com os homens e as suas "palermices". Se não fosse cuidadoso, ela dominá-lo-ia, cobri-lo-ia de ridículo no seu tom selvagem, sarcástico, pô-lo-ia fora da quinta, expulsá-lo-ia para sempre do seu próprio espírito. Tinha de ir devagar, suavemente. Teria de a apanhar como quem apanha um veado ou uma galinhola quando vai à caça. De nada serve entrar floresta adentro para dizer ao veado: "Por favor, põe-te na mira da minha espingarda." Não, trata-se antes de uma luta surda, paciente, subtil. Quando se quer de facto ir apanhar um veado, temos de começar por nos concentrarmos, por nos fecharmos sobre nós próprios, dirigindo-nos depois silenciosamente para as montanhas, antes mesmo do amanhecer. Quando se vai caçar, o importante não é tanto aquilo que se faz, é mais aquilo que se sente. Há que ser subtil, astuto, há que estar sempre pronto, ser absolutamente determinado, resoluto no avançar, fatal como o destino. Pois tudo se passa como se mais não houvesse do que um simples destino a cumprir. O nosso próprio destino comanda e determina o destino do veado que se anda a caçar. Em primeiro lugar, antes mesmo de vermos a caça, trava-se uma estranha batalha, uma batalha mesmérica, de magnetismo contra magnetismo. A nossa própria alma, como um caçador, partiu já em busca da alma do veado, e isto mesmo antes de vermos qualquer veado. E a alma do veado luta para lhe escapar. E assim que tudo se passa, antes mesmo de o veado ter captado o nosso cheiro. Trava-se então uma batalha de vontades, subtil, profunda, uma batalha que tem lugar no mundo do invisível. Batalha que só acaba quando a nossa bala atinge o alvo. E quando se chega realmente ao verdadeiro clímax, quando a caça surge por fim na nossa linha de tiro, não vamos então apontar como quando praticamos tiro ao alvo contra uma garrafa. Pois nessa altura é a nossa própria vontade que realmente conduz a bala até ao coração da caça. O voo da bala, directa ao alvo, não passa de uma débil projecção do nosso próprio destino no destino do veado. Tudo acontece enquanto expressão de um supremo desejo, de um supremo acto da vontade, não enquanto demonstração de uma simples habilidade, mera astúcia ou esperteza.
No fundo, ele era um caçador, não um fazendeiro, não um soldado com espírito de regimento. E era como jovem caçador que desejava apanhar March, transformá-la na sua presa, fazer dela sua mulher. Assim, fechou-se subtilmente sobre si mesmo, numa tão grande concentração interior que quase parecia desaparecer numa espécie de invisibilidade. Não estava muito certo de como deveria avançar. Além de que March era mais desconfiada do que uma lebre. Deste modo, decidiu continuar na aparência como aquele jovem desconhecido, estranho e simpático, em estada de quinze dias naquela casa. Naquele dia, passara a tarde a cortar lenha para a lareira. Escurecera muito cedo. Além disso, pairava no ar uma névoa fria e húmida. Quase que já estava demasiado escuro para se ver fosse o que fosse. Um monte de pequenos toros já serrados jazia junto a uma banqueta. March chegou para levar alguns para dentro de casa e outros para o telheiro, enquanto ele se preparava para serrar o último toro. Estava a trabalhar em mangas de camisa, não tendo notado a chegada dela. Ela aproximou-se com uma certa relutância, quase como que a medo. E então ele viu-a curvada sobre os toros recém-cortados, de arestas vivas, aguçadas, e parou de serrar. Como um relâmpago, sentiu um fogo subir-lhe pelas pernas, abrasando-lhe os nervos.
- March? - inquiriu, na sua voz jovem e calma.
Ela olhou por cima dos toros que estava a empilhar.
- Sim? - respondeu.
Ele tentou vê-la através da escuridão, mas não conseguia distingui-la lá muito bem.
A sua imagem chegava-lhe algo esbatida, de contornos vagos, indistintos.
- Quero perguntar-lhe uma coisa - disse então.
- Ah, sim? E o que é? - volveu ela. E havia já na sua voz um certo medo. Mas continuava perfeitamente senhora de si.
- Ora, diga-me - começou ele em tom insinuante, numa voz suave, subtil, penetran-do-lhe os nervos, arrepiando-a. - Que pensa que seja?
Ela endireitou-se, de mãos nas ancas, e ficou a olhar para ele sem responder, como que petrificada. E ele voltou a sentir-se tomado de uma súbita sensação de poder.
- Pois bem - disse, havendo na sua voz uma tal suavidade que mais parecia um leve toque, um simples aflorar, quase como quando um gato estende a pata numa imperceptível carícia, surgindo mais como um sentimento do que como um som. - Pois bem, queria pedir-lhe para casar comigo.
Mais do que ouvir, March sentiu dentro de si o eco daquela frase. Mas era em vão que tentava desviar o rosto. Uma profunda lassidão pareceu então invadi-la. Ficou de pé, silenciosa, a cabeça levemente inclinada para um lado. Ele parecia estar a curvar-se para ela, um sorriso invisível no rosto atento. E ela teve a sensação de que todo ele cintilava, rápidas faíscas dardejando do seu corpo imóvel.
Em tom rápido e abrupto, respondeu então:
- Não me venha para cá com essas palermices.
O rapaz sobressaltou-se, um espasmo nos nervos tensos, contraídos. Soube que falhara o golpe. Quedou-se então uns instantes calado tentando ordenar as ideias. Depois, pondo na sua voz toda aquela estranha suavidade tão peculiar, disse como que num afago, numa quase imperceptível carícia:
- Mas não é palermice nenhuma. Não, não é palermice. Estou a falar a sério, muito a sério. Porque é que não acredita em mim?
Parecia ferido, quase que ofendido. E a sua voz exercia um curioso poder sobre ela, dando-lhe uma sensação de liberdade, de descontracção. Algures dentro de si, ela tentava lutar, debatendo-se em busca das forças que lhe fugiam. Por um momento, sentiu-se perdida, irremediavelmente perdida. Como que moribunda, as palavras tremiam-lhe na boca, teimavam em não sair. De repente, a fala voltou-lhe.
- Você não sabe o que está a dizer! - exclamou, um leve e passageiro tom de escárnio palpitando-lhe na voz. - Mas que disparate! Tenho idade para ser sua mãe.
- Sim, sei muito bem o que estou a dizer. Sei, sim, sei muito bem o que estou a dizer - insistiu ele com enorme suavidade, como se quisesse que ela sentisse no sangue toda a força da sua voz. - Tenho plena consciência daquilo que estou a dizer. E você não tem idade para ser minha mãe, sabe muito bem que isso não é verdade. E mesmo que assim fosse, que importava isso? Pode muito bem casar comigo tenha lá a idade que tiver. Que me importa a idade? E que lhe importa isso a si? A idade não interessa!
Sentiu-se tomada de uma súbita tontura, quase que a desfalecer, quando ele acabou de falar. Ele falava rapidamente, naquela maneira rápida de falar que tinham na Cornualha, e a sua voz parecia ressoar algures dentro dela, lá onde se sentia totalmente impotente contra isso. "A idade não interessa!" Aquela insistência, como ele a dissera, suave e ardente ao mesmo tempo, dava-lhe uma estranha sensação e, por instantes, ali perdida na escuridão, sentiu-se quase a cambalear. E não foi capaz de responder.
Ele exultou, os membros ardendo-lhe, frementes, tomados de incontível júbilo. Sentiu que ganhara a partida.
- Bem vê que quero casar consigo. Porque é que não havia de o querer? - continuou ele, no seu jeito rápido e suave. E ficou à espera de uma resposta. Em meio à escuridão, ela parecia-lhe quase fosforescente. De pálpebras cerradas, o rosto meio de lado, tinha um ar ausente, abstracto. Parecia dominada pelo seu poder, submissa, quase que vencida. Mas ele aguardou, prudente e alerta. Ainda não ousava tocar-lhe.
- Diga lá que sim - volveu ele. - Diga que casa comigo. Vá, diga!... - Falava agora num tom de suave insistência.
- O quê? - perguntou então ela, numa voz frouxa, distante, como de alguém presa de viva dor. A voz do rapaz tornara-se agora incrivelmente meiga, cada vez mais suave. Ele estava agora muito perto dela.
- Diga que sim.
- Não, não posso! - gemeu ela, desamparada, mal articulando as palavras, quase que num estado de semi-inconsciência, como alguém nas vascas da agonia. - Como seria isso possível?
- Claro que pode - respondeu ele com meiguice, pousando-lhe suavemente a mão no ombro enquanto ela permanecia de pé, atormentada e confusa, o rosto de lado, a cabeça descaída. - Pode, claro que pode. Porque diz que não pode? Pode, bem sabe que pode. - E, com extrema ternura, curvou-se para ela, tocando-lhe no pescoço com o queixo, pousando-lhe os lábios, a boca.
- Não, não faça isso! - gritou ela, um grito frouxo, incontrolado, quase que histérico, escapando-se para depois o encarar. - O que quer dizer com isso? - acrescentou ainda. Mas não tinha forças para continuar a falar. Era como se já estivesse morta.
- Exactamente aquilo que disse - insistiu ele, com cruel suavidade. - Quero que case comigo. E isso mesmo, quero que case comigo. Agora já entendeu, não é assim? Já entendeu? Já? Diga que sim...
- O quê? - perguntou ela.
- Se já entendeu?... - replicou ele.
- Sim - respondeu ela. - Sei aquilo que disse.
- E sabe que falo a sério, não sabe?
- Sei aquilo que disse, nada mais.
- E acredita em mim? - perguntou ele então.
Ela quedou-se algum tempo silenciosa. Depois, de rosto tenso, os lábios crisparam-se--lhe, a boca contraiu-se.
- Não sei em que deva acreditar - disse.
- Estão aí fora? - perguntou então uma voz. Era Banford, chamando de dentro de casa.
- Sim, íamos agora levar a lenha - respondeu ele.
- Pensei que se tivessem perdido - disse Banford, num tom algo desconsolado. - Despachem-se, fazem favor, para virem tomar o chá. A chaleira já está a ferver.
Curvando-se de imediato para pegar numa braçada de lenha, ele levou-a então para a cozinha, onde costumavam empilhá-la a um canto. March também ajudou, enchendo os braços de cavacos e transportando-os de encontro ao peito como se carregasse consigo uma criança pesada e gorda. A noite caíra entretanto, fria e húmida.
Depois de levarem toda a lenha para dentro, os dois limparam ruidosamente as botas na grade exterior, esfregando-as depois no tapete. March fechou então a porta e tirou o seu velho chapéu de feltro, o seu chapéu de fazendeira. O cabelo negro, encrespado e espesso, tombava-lhe, solto, sobre os ombros, contrastando com as faces pálidas e cansadas. Com um ar ausente, atirou distraidamente o cabelo para trás e foi lavar as mãos. Banford entrou apressadamente na cozinha mal iluminada a fim de ir buscar os scones1 que deixara no forno a aquecer.
- Mas que diabo estiveram vocês a fazer até agora? - perguntou ela em tom azedo. - Já pensava que nunca mais vinham. E há que tempos que você parou de serrar. Que estiveram vocês a fazer lá fora?
- Bem - disse Henry -, estivemos a tapar aquele buraco no celeiro para os ratos não entrarem.
- Ora essa! Mas eu vi-os no telheiro. Você estava de pé, em mangas de camisa - objectou Banford.
- Sim, nessa altura eu tinha ido arrumar a serra.
Tomaram então o chá. March estava muito calada, um ar absorto no rosto pálido e cansado. O jovem, sempre de rosto corado e ar reservado, como que a vigiar-se a si mesmo, estava a tomar o chá em mangas de camisa, tão à vontade como se estivesse em sua casa. Debruçando-se sobre o prato, comia com toda a sem-cerimónia.
- Não tem frio? - perguntou Banford em tom maldoso. - Assim em mangas de camisa...
Ele olhou para ela, ainda com o queixo junto ao prato, observando-a com olhos claros, transparentes. Fitava-a com o mesmo ar imperturbável de sempre.
- Não, não tenho frio - respondeu ele com a sua habitual cortesia, no seu tom suave e modulado. - Está muito mais quente aqui do que lá fora, sabe...
- Espero bem que sim - retrucou Banford, sentindo que ele a estava a provocar. Aquela estranha e suave autoconfiança que ele tinha, aquele seu olhar brilhante e profundo, contendiam-lhe com os nervos naquela noite.
- Mas talvez - disse ele, suave e cortês - não goste de que eu venha tomar chá sem casaco. Não me lembrei disso.
- Oh, não, não me importo - disse Banford, embora de facto se importasse.
- Não acha que será melhor ir buscá-lo? - perguntou ele.
Os olhos escuros de March viraram-se lentamente para ele.
- Não, não se incomode - disse, num estranho tom nasalado. - Se se sente bem como está, pois deixe-se estar. - Falara de uma forma friamente autoritária.
- Sim - respondeu ele -, sinto-me bem, isto se não estou a ser descortês...
- Bom, isso é normalmente considerado como sinal de má educação - disse Banford. - Mas nós não nos importamos.
- Deixa-te disso! "Considerado sinal de má educação"... - exclamou March, algo intempestiva. - Quem é que considera isso sinal de má educação?
- Ora essa, Nellie! Consideras tu! E até agora sempre o disseste em relação a toda a gente!... - disse Banford, empertigando-se um pouco por detrás dos óculos e sentindo a comida atravessar-se-lhe na garganta.
Mas March voltara a ter aquele seu ar vago e ausente, mastigando a comida como se não tivesse consciência de o estar a fazer. E o jovem observava as duas com olhos vivos e atentos.
Banford sentia-se ofendida. Pois, apesar de toda aquela suavidade e cortesia com que ele sempre falava, o jovem parecia-lhe ser mas era um grande descarado. E não gostava de olhar para ele. Não gostava de encarar aqueles olhos claros e vivos, aquele estranho fulgor que sempre tinha no rosto, aquela barba fina e delicada que lhe ornava as faces, aquela pele estupidamente vermelhusca que, contudo, parecia sempre incendiada por um estranho calor de vida. Quase que se sentia doente ao olhar para ele. Pois a qualidade da sua presença física era demasiado penetrante, demasiado ardente.
Depois do chá, o serão era sempre muito calmo. O jovem raramente saía, raramente ia até à aldeia. Por via de regra, costumava ficar a ler, pois era um grande leitor nas horas vagas. Isto é, quando começava, deixava-se absorver totalmente pela leitura. Mas nunca tinha muita pressa de começar. Muitas vezes, saía para dar longos e solitários passeios pelos campos, seguindo rente às sebes, envolto no negrume da noite. Demonstrava um singular instinto pela noite, vagueando, confiante, enquanto escutava os sons selvagens que lhe chegavam.
Contudo, naquela noite, tirou um livro do capitão Mayne Reid1 da estante de Banford e, sentando-se de joelhos escarranchados, mergulhou na leitura da história. O seu cabelo, de um louro-acastanhado, era um tanto comprido, assentando-lhe na cabeça como um grosso boné, apartado ao lado. Estava ainda em mangas de camisa e, debruçado para a frente sob a luz do candeeiro, com as pernas abertas e o livro na mão, todo o seu ser absorvido no esforço assaz estrénuo da leitura, dava à sala de estar de Banford um ar de quarto de arrumações. E isso irritava-a, ofendia-a. Pois no chão da sala tinha um tapete turco de cor vermelha e franjas negras, a lareira possuía azulejos verdes, de muito bom gosto, o piano estava aberto com a última música de dança encostada ao tampo - ela tocava muito bem, aliás - e nas paredes viam-se cisnes e nenúfares, pintados à mão por March. Além disso, com as achas a arderem trémula e suavemente, o fogo crepitando na grade da lareira, com os espessos cortinados corridos e as portas fechadas, em contraste com o vento que uivava lá fora, fazendo estremecer os pinheiros, a sala era confortável, elegante e bonita. E ela detestava a presença daquele jovem rude, alto e de grandes pernas, as joelheiras de caqui muito espetadas sob o tecido repuxado, para ali sentado com os punhos da sua camisa de soldado abotoados à volta dos grossos pulsos vermelhaços. De tempos a tempos, ele virava uma página, lançando de ora em vez um rápido olhar ao fogo que ardia e ajeitando as achas. Depois, voltava a mergulhar na solitária e absorvente tarefa da leitura.
March, na ponta mais afastada da mesa, fazia o seu croché de uma forma rápida, sacudida.
Tinha a boca estranhamente contraída, como quando sonhara que a cauda do raposo lhe queimava os lábios, o seu belo cabelo negro encaracolado caindo-lhe em madeixas ondulantes. Mas toda ela parecia perdida numa aura de devaneio, como se na verdade estivesse muito longe dali. Numa espécie de sonho acordado, parecia-lhe ouvir o regougar do raposo no vento que assobiava à volta da casa, um cântico selvagem e doce como uma louca obsessão. Com as suas mãos rosadas e bem feitas, desfiava vagarosamente o algodão branco num croché lento, desajeitado.
Banford, sentada na sua cadeira baixa, tentava igualmente ler. Mas sentia-se algo nervosa no meio daqueles dois. Não parava de se mexer e de olhar em volta, ouvindo o sibilar do vento enquanto espreitava furtivamente ora um ora outro dos seus companheiros. March, de costas direitas contra o espaldar da cadeira, as pernas cruzadas sob as calças justas, entregue ao seu croché lento, laborioso, também a deixava preocupada.
- Oh, meu Deus! - exclamou Banford. - Os meus olhos não estão nada bons esta noite. - E esfregava-os com os dedos.
O jovem levantou a cabeça, fitando-a com olhos claros e vivos, mas nada disse.
- Ardem-te, é, Bill? - perguntou March distraidamente.
O jovem recomeçou então a ler e Banford viu-se obrigada a voltar ao seu livro. Mas não conseguia estar quieta. Ao fim de algum tempo, olhou para March, um estranho sorriso maldoso desenhando-se-lhe no rosto magro.
-Um penny1 pelos teus pensamentos, Nellie - disse, de súbito.
March olhou em volta com um ar espantado, os olhos negros muito abertos, tornando--se então muito pálida, como se tomada de pânico. Tinha estado a ouvir o cântico do raposo, elevando-se nos ares com uma tão profunda, inacreditável ternura, enquanto ele errava em torno da casa.
- O quê? - perguntou num tom abstracto.
- Um penny pelos teus pensamentos - repetiu Banford, sarcástica. - Ou até mesmo dois, se forem assim tão profundos.
O jovem, do seu canto sob o candeeiro, observava-as com olhos vivos e brilhantes.
- Ora - volveu March, na sua voz ausente -, porque hás-de desperdiçar assim o teu dinheiro?
- Achei que talvez fosse bem gasto - replicou Banford.
- Não estava a pensar em nada de especial, apenas no soprar do vento à volta da casa - disse então March.
- Oh, céus! - retorquiu Banford. - Até eu podia ter tido um pensamento tão original como esse. Desta vez, receio bem ter desperdiçado o meu dinheiro.
- Bom, não precisas de pagar - disse March.
De repente, o jovem pôs-se a rir. Ambas as mulheres olharam então para ele, March com um certo ar de surpresa, corr� se só então se desse conta da sua presença.
- Mas então costumam sempre pagar em tais ocasiões? - perguntou ele.
- Oh, claro - disse Banford. - Pagamos sempre. Houve alturas em que tive de pagar à Nellie um xelim por semana, isto no Inverno, pois no Verão fica muito mais barato.
- O quê? Mas então pagam pelos pensamentos uma da outra? - disse o jovem, rindo.
- Sim, quando já não há absolutamente mais nada com que nos entretermos.
Ele ria por acessos, de uma forma brusca, sacudida, franzindo o nariz como um cachorrinho, um vivo prazer no riso dos olhos brilhantes.
- É a primeira vez que oUço falar em tal coisa - disse então.
- Acho que já a teria ouvido muitas vezes se tivesse de passar um Inverno em Bailey Farm - retrucou Banford err tom lastimoso.
- Mas então aborrecem-se assim tanto? - perguntou ele.
- Mais do que isso! - exclamou Banford.
- Oh! - disse ele com ar grave. - Mas por que é que se hão-de aborrecer?
E quem não se aborreceria? - respondeu Banford.
-- Lamento muito saber disso - disse cu Ião ele com solene gravidade.
- E é mesmo de lamentar, especialmente He pensa que se vai divertir muito por aqui - volveu Banford.
Ele olhou-a demoradamente, um ar de seriedade estampado no rosto.
- Bom - disse, com aquela sua jovem e estranha gravidade -, por mim sinto-me aqui muito bem, até me divirto bastante.
- Pois folgo em ouvi-lo - retrucou Banford. E voltou ao seu livro. Apesar de ainda não ter trinta anos já se viam nos seus cabelos finos, algo frágeis e ralos, muitos fios grisalhos. O rapaz, não tendo baixado os olhos para o livro, fitava agora March, que permanecia sentada entregue ao seu laborioso croché, os olhos esbugalhados e ausentes, a boca crispada. Tinha uma pele quente, ligeiramente pálida e fina, um nariz delicado. A boca crispada dava-lhe um ar azedo. Mas esse aparente azedume ira contrariado pelo curioso arquear das sobrancelhas negras, pela amplitude do seu olhar, um ar de maravilha e incerteza nos olhos espantados. Estava outra vez a tentar ouvir o raposo, que entretanto parecia ter-se afastado, errando agora nas lonjuras da noite.
O rapaz, sentado junto ao candeeiro, o rosto erguido assomando por sob o rebordo do quebra-luz, observava-a em silêncio, um ar atento nos olhos arredondados, muito vivos e claros. Banford, mordiscando os dedos, irritada, olhava-o de soslaio por entre os cabelos caídos. Quedando-se sentado numa imobilidade de estátua, o rosto avermelhado inclinado por sob a luz para emergir um pouco abaixo desta no limiar da penumbra, ele continuava a observar March com um ar de absorta concentração. Esta, erguendo subitamente os grandes olhos negros do croché, olhou-o por seu turno. E, ao encará-lo, soltou uma pequena exclamação de sobressalto.
- Lá está ele! - gritou de modo involuntário, como alguém terrivelmente assustado.
Banford, estupefacta, passeou os olhos pela sala, endireitando-se na cadeira.
- Mas o que é que te deu, Nellie? - exclamou ela.
Mas March, um leve tom rosa nas faces ruborizadas, estava a olhar para a porta.
- Nada! Nada! - respondeu de mau modo. - Já não se pode falar?
- Pode, claro que pode - disse Banford. - Desde que tenha algum sentido... Mas que querias tu dizer?
- Não sei, não sei o que quis dizer - replicou March, impaciente.
- Oh, Nellie, espero que não estejas a tornar-te - nervosa e irritável. Sinto que não poderia suportá-lo! Mais isso, não! - disse a pobre Banford, num ar assustado. - Mas a quem te referias? Ao Henry?
- Sim, suponho que sim - declarou March, lacónica. Nunca teria tido coragem de falar do raposo.
- Oh, meu Deus! Esta noite estou com os nervos arrasados - lamentou-se Banford.
Às nove horas, March trouxe um tabuleiro com pão, queijo e chá, pois Henry declarara preferir uma chávena de chá. Banford bebeu um copo de leite acompanhado com um pouco de pão. E mal acabara ainda de comer quando disse:
- Vou-me deitar, Nellie. Esta noite estou uma pilha de nervos. Não vens também?
- Sim, vou já, é só o tempo de ir arrumar o tabuleiro - respondeu March.
- Não te demores, então - disse Banford, algo agastada. - Boa noite, Henry. Se for o último a subir, não se esqueça do lume, está bem?
- Sim, Miss Banford, não me esquecerei, esteja descansada - replicou ele em tom tranquilizador.
Enquanto Banford subia as escadas já de palmatória na mão, March acendia entretanto uma vela a fim de ir até à cozinha. Ao voltar à sala, aproximou-se da lareira e, virando-se para ele, disse-lhe:
- Suponho que podemos contar consigo para apagar o lume e deixar tudo em ordem, não? - Estava de pé, uma mão apoiada na anca, o joelho flectido, a cabeça timidamente desviada, um pouco de lado, como se não pudesse olhá-lo de frente. De rosto erguido, ele observava-a em silêncio.
- Venha sentar-se aqui um minuto - disse então.
- Não, tenho de ir andando. Jill está à minha espera e pode ficar inquieta se eu não for já.
- Porque se sobressaltou daquela maneira há bocado? - perguntou ele.
- Mas eu sobressaltei-me? - retorquiu ela, olhando-o.
- Ora essa! Ainda há instantes - disse ele. - Na altura em que você gritou.
- Oh, isso! - exclamou da. - Bom, é que o tomei pelo raposo! - E contraiu o rosto num estranho sorriso, meio embaraçado, meio irónico.
- O raposo! Mas porquê o raposo? - inquiriu ele com grande suavidade.
- Bom, é que no Verão passado, numa tarde em que tinha saído de espingarda, vi o raposo por entre as ervas, quase ao pé de mim, a olhar-me fixamente. Não sei, suponho que foi isso que me impressionou. - E voltou a virar a cabeça, balouçando ao de leve um dos pés, com um ar constrangido.
- E matou-o? - perguntou o rapaz.
- Não, pois ele pregou-me um tal susto, ali a olhar muito direito para mim, que o deixei afastar-se. Mas depois voltou a parar, virando-se então para trás e olhando-me como que a rir-se...
- Como que a rir-se! - repetiu Henry, rindo--se por seu turno. - E isso assustou-a, não foi?
- Não, ele não me assustou. Apenas me impressionou, mais nada.
- E pensou então que eu era o raposo, não é? - disse ele, rindo daquela forma estranha, sacudida, um ar de cachorrinho no nariz franzido.
- Sim, na altura pensei - respondeu ela. - Se calhar, e ainda sem o saber, não me saiu da cabeça desde então.
- Ou talvez você pense que eu vim cá roubar-lhe as galinhas ou algo assim - retorquiu ele, naquele seu riso juvenil.
Mas ela limitou-se a olhá-lo com um ar vago e ausente nos grandes olhos negros.
- E a primeira vez - disse então ele - que me confundem com um raposo. Não quer sentar-se por um minuto? - Falava agora num tom de grande suavidade, meigo e persuasivo.
- Não, não posso - volveu ela. - Jill deve estar à espera. - Mas deixou-se ficar especada, um pé a bambolear, o rosto desviado, ali parada no limiar do círculo de luz.
- Mas não quer então responder à minha pergunta? - disse ele, baixando ainda mais a voz.
- Não sei a que pergunta se refere.
- Sabe, sim. E claro que sabe. Eu perguntei-lhe se se queria casar comigo.
- Não, não devo responder a uma tal pergunta - replicou ela, categórica.
- Mas porque não? - E voltou a franzir o nariz, de novo tomado por aquele seu curioso riso juvenil. - E porque eu sou como o raposo? E por isso? - E ria-se com gosto.
Virando-se, ela fitou-o num olhar lento, demorado.
- Não deixarei que isso se interponha entre nós - disse ele então. - Deixe-me baixar a luz e venha sentar-se aqui um instante.
Enfiando a mão por baixo do quebra-luz, a pele vermelha quase incandescente sob o fulgor da lâmpada, baixou subitamente a luz até quase a apagar. March, sem se mover, quedou--se de pé em meio à obscuridade, indistinta, vaga, quase irreal. Então, ele ergueu-se silenciosamente, firmando-se nas suas longas pernas. E falava agora com uma voz extraordinariamente suave e sugestiva, quase inaudível.
- Deixe-se ficar um momento - disse. - Só um momento. - E pôs-lhe a mão no ombro. Ela virou-se então para ele. - Não acredito que possa realmente pensar que sou como o raposo - continuou ele com a mesma suavidade, uma leve sugestão de riso no tom algo trocista. - Não está a pensar nisso agora, pois não? - E, com extrema gentileza, atraiu-a para si, beijando-lhe suavemente o pescoço. Ela retraiu-se, estremecendo, e tentou escapar-lhe. Mas o braço dele, jovem e forte, fê-la imobilizar-se, enquanto ele voltava a beijá-la no pescoço com grande suavidade, pois ela insistia em desviar o rosto.
- Não quer responder à minha pergunta? Não quer? Agora, aqui mesmo... - voltou a repetir numa voz suave, arrastada, quase langorosa. Estava agora a tentar puxá-la mais para si, a tentar beijá-la no rosto. Beijou-a então numa das faces, junto ao ouvido.
Nesse momento, ouviu-se a voz de Banford, enfadada e azeda, a chamar do alto das escadas.
- É Jill! - exclamou March, endireitando--se, assustada.
Porém, ao fazê-lo, ele, rápido como um relâmpago, beijou-a na boca, um beijo corrido, quase de raspão. Ela sentiu que todo o seu ser se lhe incendiava, que todas as fibras lhe ardiam. Deu então um estranho grito, curto e rápido.
- Casa, não casa? Diga que sim! Casa? - insistiu ele suavemente.
- Nellie! Nellie! Porque é que te demoras tanto? - voltou a gritar Banford, numa voz fraca, distante, vinda da escuridão envolvente.
Mas ele mantinha-a bem segura, continuando a murmurar-lhe com intolerável suavidade e insistência:
- Casa, não casa? Diga que sim! Diga que sim!
March, com a sensação de estar possuída por um fogo abrasador, as entranhas a arder, sentindo-se destruída, incapaz de reagir, limitou-se a murmurar:
- Sim! Sim! Tudo o que quiser! Tudo o que quiser! Mas deixe-me ir! Deixe-me ir! Jill está a chamar!
- Não se esqueça do que prometeu - disse então ele, insidiosamente.
- Sim! Sim! Bem sei! - Falava agora num tom subitamente alto, com uma voz gritada, estridente, quase que um guincho. - Está bem, Jill, vou já!
Surpreendido, ele largou-a. Quase a correr, ela subiu então rapidamente as escadas.
Na manhã seguinte, depois de ter dado as suas voltas e tratado dos animais, pensando para consigo que até se podia ali viver muito bem, disse para Banford enquanto tomavam o pequeno-almoço:
- Sabe uma coisa, Miss Banford?
- Diga lá! O que é? - respondeu Banford, com o seu ar nervoso e afável de sempre.
Ele olhou então para March, ocupada a pôr geleia no pão.
- Digo-lhe? - perguntou-lhe.
Ela olhou para ele, o rosto invadido por um intenso rubor róseo.
- Sim, se se está a referir a Jill - respondeu ela. - Só espero que não vá espalhar por toda a aldeia, nada mais. - E engoliu o pão seco com uma certa dificuldade.
- Bom, que irá sair daí? - disse Banford, erguendo os olhos vazios e cansados, ligeiramente vermelhos também. Era uma figurinha fina, frágil, com um cabelo curto, delicado e ralo, de tons desmaiados, já algo grisalho no seu castanho-claro, caindo-lhe suavemente sobre o rosto macilento.
- Pois que pensa que possa ser? - indagou ele, sorrindo como quem está de posse de um segredo.
- Como hei-de eu saber?! - exclamou Banford.
- Não pode adivinhar? - insistiu ele, de olhos brilhantes, um sorriso de profunda satisfação estampado no rosto.
- Não, creio bem que não. Mais, nem sequer me vou dar ao trabalho de tentar.
- Nellie e eu vamo-nos casar.
Banford soltou a faca, deixando-a cair dos dedos magros e delicados como quem não tivesse qualquer intenção de voltar a comer com ela em dias da sua vida. E ficou ali a olhar, perplexa, os olhos atónitos e avermelhados.
- Vocês o quê?! - exclamou então.
- Vamo-nos casar. Não é verdade, Nellie? - disse ele, virando-se para March.
- Pelo menos é o que você diz - respondeu esta, lacónica. Mas de novo o rosto se lhe ruborizou num fulgor de agonia. E também ela se sentia agora incapaz de engolir.
Banford olhou-a qual pássaro mortalmente atingido, um pobre passarinho doente, abandonado e só. E, com um rosto em que se lia todo o sofrimento que lhe ia na alma, envolveu March, profundamente ruborizada, num olhar de espanto, pasmo e dor.
- Nunca! - exclamou então, sentindo-se desamparada e perdida.
- Pois é bem verdade - disse o jovem, um brilho maldoso nos olhos exuberantes.
Banford desviou o rosto, como se a simples visão da comida na mesa lhe desse agonias. E, como se estivesse realmente enjoada, quedou-se assim sentada durante algum tempo. Então, apoiando uma mão na borda da mesa, pôs-se finalmente de pé.
- Nunca acreditarei nisso, Nellie, nunca! - gritou. - É absolutamente impossível!
Havia na sua voz aflita e plangente um leve tom de desespero, de fúria, quase que de raiva.
- Porquê? Porque não deveria acreditar? - perguntou o jovem, com aquele seu tom de impertinência na voz suave e aveludada.
Banford olhou para ele do fundo dos seus olhos vagos e ausentes, como se ele não passasse de um qualquer animal de museu.
- Oh! - disse ela em voz fraca. - Porque ela não pode ser assim tão louca, não pode ter perdido o seu amor-próprio a um ponto tal. - Falava de forma desgarrada, como que à deriva, numa voz desanimada e dolente.
- Mas em que sentido é que ela iria perder o seu amor-próprio? - perguntou o rapaz.
Por detrás dos óculos, Banford olhou-o fixamente com um ar distante e ausente.
- Se é que já não o perdeu - disse.
Sob a insistência daquele olhar vago e abstracto, emergindo por detrás das grossas lentes, ele tornou-se muito vermelho, quase escarlate, o rosto febril, afogueado.
- Não estou a perceber nada - disse então.
- Se calhar, não. Aliás, não esperava que percebesse - respondeu Banford naquele seu tom suave, distante e arrastado, que tornava as suas palavras ainda mais insultuosas.
Ele inteiriçou-se na cadeira, quedando-se rigidamente sentado, os seus olhos azuis a brilharem, ardentes, no rosto escarlate. Fitava-a agora de sobrolho carregado, um ar de ameaça no rosto tenso.
- Palavra que ela não sabe em que é que se está a meter - continuou Banford na mesma voz plangente, arrastada, insultuosa.
- Mas que é que isso lhe importa, afinal de contas? - disse o jovem, irritado.
- Provavelmente muito mais do que a si - replicou ela, a voz simultaneamente dolente e venenosa.
- Ah, sim?! Pois olhe que continuo sem perceber nada! - explodiu ele.
- É natural. Aliás, não creio que o pudesse perceber - retorquiu ela, evasiva.
- De qualquer forma - disse March, empurrando a cadeira para trás e levantando--se, abrupta -, não serve de nada estar para aqui a discutir. - E, agarrando no pão e no bule do chá, dirigiu-se a passos largos para a cozinha.
Banford, como que em êxtase, passou uma mão pela testa, os dedos trémulos e nervosos errando-lhe ao longo dos cabelos. Depois, voltando costas, desapareceu escada acima.
Henry deixou-se ficar sentado, um ar rígido e carrancudo, de rosto e olhos em fogo. March andava de cá para lá, levantando a mesa. Mas Henry não arredava pé, paralisado pela raiva. Quase que nem dava por ela. Esta readquirira a sua habitual compostura, exibindo uma tez cremosa, macia, uniforme. Contudo, os lábios permaneciam cerrados, a boca crispada. Mas sempre que vinha buscar coisas da mesa, deitava-lhe um rápido olhar, espreitando-o com os seus grandes olhos atentos, mais por simples curiosidade do que por qualquer outro motivo. Um rapaz tão crescido, com um rosto tão carrancudo e vermelhusco! Ei-lo tal como agora estava, para ali sentado muito quieto. Além disso, parecia estar muito longe dali, tão distante dela como se o seu rosto afogueado não passasse de um simples cano vermelho de chaminé numa qualquer cabana perdida algures nos campos. E ela observava-o com a mesma distanciação, com a mesma objectividade.
Finalmente, ele levantou-se e, com um ar grave, saiu porta fora a grandes passadas, dirigindo-se para os campos de espingarda na mão. Só voltou à hora do almoço, o mesmo ricto demoníaco no rosto irado, mas com modos assaz delicados e corteses. Ninguém disse nada de especial, tendo ficado sentados em triângulo, cada um em sua ponta, todos com um ar abstracto, ausente, fechados no mesmo obstinado silêncio. De tarde, voltou a sair de espingarda na mão, retirando-se imediatamente após a comida. Voltou ao cair da noite com um coelho e um pombo, quedando-se então em casa durante todo o serão, quase sem dizer palavra. Estava furioso, enraivecido, com a sensação de ter sido insultado.
Banford tinha os olhos vermelhos, obviamente por ter estado a chorar. Mas os seus modos eram mais distantes e sobranceiros do que nunca, especialmente na forma como desviava o rosto quando ele, por acaso, calhava falar, como se o considerasse um vagabundo um reles intruso, enfim, um miserável qualquer da mesma laia, pelo que os olhos azuis do rapaz quase que se tornavam negros de raiva, uma expressão ainda mais carregada no rosto sombrio. Mas nunca perdia o seu tom de polidez sempre que abria a boca para falar.
March, pelo contrário, parecia rejubilar naquela atmosfera. Sentada entre os dois antagonistas, bailava-lhe no rosto um leve sorriso perverso, como que profundamente divertida com tudo aquilo. Quase que até havia uma espécie de complacência no modo como naquela noite trabalhava no seu lento e laborioso croché.
Uma vez deitado, o jovem deu-se conta de que as duas mulheres conversavam e discutiam no quarto delas. Sentando-se na cama, apurou o ouvido na tentativa de perceber aquilo que estavam a dizer. Mas não pôde ouvir nada, pois os quartos ficavam demasiado longe um do outro. Não obstante, foi-lhe possível distinguir o timbre brando e plangente da voz de Banford em contraponto com o tom de March, mais fundo e cavo.
Estava uma noite calma, silenciosa e glacial. Grandes estrelas cintilavam no céu, para lá dos cumes mais altos dos pinheiros. Atento, ele escutava e tornava a escutar. Na distância, ouviu o regougar do raposo, o ladrar dos cães que lhe respondiam das quintas. Mas nada disso lhe interessava. De momento, o seu único interesse era poder ouvir aquilo que as duas mulheres estavam a dizer.
Saltando furtivamente da cama, pôs-se de pé junto à porta. Mas, tal como antes, era-lhe impossível ouvir fosse o que fosse. Então, com todo o cuidado, começou a levantar o trinco e, ao fim de algum tempo, a porta deu finalmente de si. Depois, esgueirando-se sub-repticiamente para o corredor, deu alguns passos cautelosos. Mas as velhas tábuas de carvalho, geladas sob os seus pés nus, estavam com rangidos insólitos, inoportunos. Pé ante pé, deslizou então com todo o cuidado, sempre rente à parede, até atingir o quarto das raparigas. Imobilizando-se aí, junto à porta, susteve a respiração e apurou o ouvido. Era Banford quem estava agora a falar:
- Não, isso ser-me-ia pura e simplesmente insuportável. Um mês que fosse e estaria morta. Aliás, é isso mesmo que ele pretende, é claro. E esse o seu jogo, ver-me enterrada no cemitério. Não, Nellie, se fizeres uma coisa dessas, se casares com ele, não poderás ficar aqui. Eu nunca poderia viver com ele na mesma casa. Oh! Só o cheiro das roupas dele quase que me põe doente. E aquela cara sempre vermelha, sempre congestionada... Dá-me cá umas agonias que até se me revolvem as entranhas! Nem consigo comer quando ele está à mesa, parece que a comida não me passa da garganta. Que louca fui em deixá-lo cá ficar! Nunca nos devemos deixar levar pela nossa bondade, é o que é. Praticar boas acções paga-se sempre muito caro... E como um bumerangue, viram-se sempre contra nós...
- Bem, também já só faltam dois dias para se ir embora - disse March.
- Sim, graças a Deus! E, uma vez fora, não voltará a pôr os pés nesta casa. Sinto-me tão mal quando ele cá está!... E eu bem sei que ele mais não quer do que explorar-te, aproveitar--se de ti... E só isso que lhe interessa, nada mais. Ele não passa de um inútil, de um imprestável! Não quer trabalhar, só pensa em viver à nossa custa... Ah, mas para cá vem de carrinho, que comigo não conta ele!... Se te queres armar em parva, isso é lá contigo! Olha, Mrs. Burguess conheceu-o muito bem quando ele cá viveu. E sabes o que ela diz?... Que o velhote nunca conseguiu que ele fizesse qualquer trabalho direito. Estava sempre a escapar-se para andar por aí de espingarda na mão, tal como faz agora. E só disso que ele gosta, de andar para aí de espingarda! Oh, como eu detesto essa mania, meu Deus, como eu a odeio!... Tu não sabes no que te vais meter, Nellie, não sabes. Se casares com ele, ele vai fazer de ti parva! Mais tarde ou mais cedo, acaba por se pôr ao fresco e deixa-te para aí em apuros. Sim, sim, que eu bem sei!... Isto se não nos conseguir esbulhar de Bailey Farm... Ah, mas disso está ele livre, pelo menos enquanto eu viver!... Enquanto eu viver, ele nunca voltará a pôr aqui os pés, isso te garanto eu!... Sim, que eu bem sei o que iria sair daí. Não ia tardar muito que não começasse a armar em senhor, pensando que podia mandar em nós... Aliás, como já pensa que manda em ti.
- Mas não manda - replicou Nellie.
- Seja como for, ele pensa que manda. E é isso mesmo que ele quer, meter-se aqui e ser ele o dono e senhor. Sim, estou mesmo a vê--lo, a querer mandar em tudo! E será que foi para isso que decidimos instalar-nos aqui, para sermos escravizadas e brutalizadas por um tipo odioso e sanguíneo, um qualquer jornaleiro bestial? Oh, não há dúvida de que cometemos um terrível erro ao deixá-lo cá ficar! Nunca nos devíamos ter rebaixado a esse ponto. E eu que tanto tive de lutar com a gente desta terra para não ter de descer ao seu nível. Não, ele não vai cá ficar. Ah, e então hás-de ver!... Se não se puder instalar por aqui com armas e bagagens, vai voltar a desaparecer, a partir para o Canadá ou para qualquer outro lado, abandonando-te como se tu nunca tivesses existido. E lá ficarás tu completamente arruinada, para aí feita uma parva, objecto do escárnio de toda esta gente. E eu sei que nunca mais poderei ter paz, que nunca mais me poderei recompor...
- Pois vamos dizer-lhe que não pode cá ficar. Vamos dizer-lhe que não pode ser, que tem de partir, está bem? - disse March.
- Oh, não te incomodes! Sou eu quem lho vai dizer, isso e muito mais, antes de ele se ir embora. Não vai ser tudo como ele quer, pelo menos enquanto me restarem forças para falar, isso to garanto. Oh, Nellie, ele vai desprezar-te como besta que é, aquele imundo animal! Basta que lhe dês azo e vais ver. Ser-me-ia mais fácil acreditar num gato que não roubasse do que ter qualquer confiança nele. Ele é dissimulado, prepotente, egoísta da cabeça aos pés, frio como gelo. Só quer aproveitar-se de ti, nada mais. E quando já não lhe interessares, quando já não lhe servires para nada, pobre de ti!
- Bom, também não creio que seja assim tao mau... - disse March.
- Pois enganaste! Pensas isso porque contigo ele anda a disfarçar. Mas espera até o conheceres melhor e hás-de ver. Oh, Nellie nem aguento pensar nisso! Pensar em ti assim...
- Mas, querida Jill, tu não terás nada a ver com isso! Nada te acontecerá, não tens que ter receio...
- Ah, não? Nada me acontecerá, não é?... Isso dizes tu, mas eu sei que nunca mais terei um momento de descanço, que nunca mais voltarei a ser feliz. Não, Nellie, nunca mais serei feliz!... - E Banford pôs-se a chorar amargamente.
O rapaz, de pé do lado de fora da porta, pôde ouvir os soluços abafados da mulher. Depois, a voz de March, que no seu tom profundo, suave, terno, confortava, com gentileza e ternura, a amiga lavada em lagrimas.
Tinha os olhos desmesuradamente abertos, tão redondos e vazios que dir-se-ia conterem em si toda a imensidão da noite, além de que os ouvidos, como que descolados da cabeça, quase que pareciam querer saltar fora. Estava meio morto de frio, o corpo gelado e hirto. Então, deslizou silenciosamente de volta ao quarto, voltando a deitar-se na cama. Mas sentia uma dor aguda no alto da cabeça, como se esta lhe fosse estalar. Assim, não conseguia dormir nem estar quieto. Decidindo, pois, levantar-se, vestiu-se com todo o cuidado, evitando fazer barulho, e voltou a sair para o patamar. As mulheres estavam agora em silencio. Descendo cautelosamente as escadas, dirigiu-se então até à cozinha.
Uma vez aí, calçou as botas, pôs o sobretudo e pegou na espingarda. Não que tenha pensado em se afastar da quinta. Apenas pegou na espingarda, nada mais. Tão silenciosamente quanto possível, abriu a porta e saiu para o exterior, mergulhando assim no frio glacial daquela noite de Dezembro. Estava um ar parado, com as estrelas a cintilarem lá no alto por sobre os picos acerados dos pinheiros, recortando-se, sussurrantes, contra o céu límpido e claro. Dirigindo-se furtivamente para junto de uma sebe, olhou em volta à procura de caça. Porém, lembrou-se de repente de que não devia disparar para não assustar as mulheres.
Assim, ladeando os montes de tojo, cortando depois através do matagal por entre velhos e altos azevinhos, foi perscrutando a escuridão com olhos tão dilatados e brilhantes como os de um gato, simultaneamente negros e luzidios, capazes de penetrarem as trevas com tanta acuidade como se fosse dia. Um mocho piava monótona e lastimosamente junto de um velho carvalho. Avançando devagar, pé ante pé num passo furtivo, a espingarda bem firme na mão, ele seguia atento, ouvido à escuta, alerta ao menor ruído.
Ao chegar junto dos carvalhos da orla do bosque, parando por instantes para apurar melhor o ouvido, deu-se conta de que os cães da cabana vizinha, no alto da colina, tinham desatado subitamente a ladrar, como que alvoroçados, acordando assim os cães das quintas em redor que ladravam agora em resposta. E, de repente, teve a sensação de que a Inglaterra se tornava mais pequena e acanhada, que a própria paisagem como que se contraía na escuridão, que demasiados cães povoavam a noite com um estrépito semelhante a uma barreira de som, como um labirinto de sebes inglesas em que a vista se enredasse, baralhada e perdida. E sentiu que o raposo não tinha qualquer hipótese. Pois só podia ter sido o raposo a desencadear todo aquele tumulto.
Aliás, porque não pôr-se à espera dele? Na certa que devia vir por aí, farejando tudo em seu redor. O rapaz desceu então a colina até ao local onde a quinta e alguns raros pinheiros se acocoravam no escuro. Chegando junto ao comprido barracão, agachou-se numa esquina, em meio às trevas envolventes. Sabia que o raposo estava a chegar. E pareceu-lhe a ele que aquele devia ser o último da sua espécie naquela Inglaterra repleta de clamorosos latidos, ininterruptos e furiosos, correndo, acossado, por entre um nunca mais acabar de casas, casinhas e casinhotos.
Deixou-se estar sentado por longo tempo, olhos invariavelmente fixos no portão aberto, lá onde parecia haver uma pálida luz, quem sabe se vinda das estrelas ou do horizonte. Estava sentado num toro com a espingarda em cima dos joelhos, oculto num canto escuro. De quando em vez, ouvia os estalidos dos pinheiros. No celeiro, houve uma altura em que uma galinha, tendo caído do poleiro com um baque surdo, desatou a cacarejar, alvoroçada, pelo que ele se ergueu, estremecendo, e ficou a olhar, olhos e ouvidos muito abertos, pensando que tivesse sido um rato. Mas não, sentiu que não fora nada. Assim, voltou a sentar-se com a espingarda em cima dos joelhos e as mãos enfiadas debaixo dos braços para as aquecer, o olhar fixamente cravado na pálida luminosidade do portão aberto, sem um pestanejo sequer nos olhos firmes e atentos. Entrando-lhe pelas narinas, sentiu o odor quente, enjoativo e forte das galinhas que dormiam, pairando no ar frio e cortante.
E então... Uma sombra. Deslizando pelo portão, viu passar uma sombra. Concentrando o olhar num único e poderoso foco visual, viu então a sombra do raposo, viu o raposo rastejando sobre o ventre através do portão. Lá estava ele, de ventre rastejante como uma cobra. Sorrindo para consigo, o rapaz levou a arma ao ombro. Sabia perfeitamente como tudo se iria passar. Sabia que o raposo se ia dirigir para junto das tábuas da porta do galinheiro, pondo-se aí a farejar. E sabia que ele se ia quedar aí uns instantes, sentindo o cheiro das galinhas no interior. Então, pôr-se-ia de novo a rondar por ali, focinho rente ao chão junto às paredes do velho celeiro, à espera de descobrir por onde entrar.
A porta do galinheiro ficava ao cimo de uma ligeira subida. Tão suave e imperceptível como uma sombra, o raposo rastejou ao longo da subida e acocorou-se de focinho encostado às tábuas. Nesse preciso momento, ouviu-se o estrondo ensurdecedor do disparo da caçadeira ecoando entre os velhos edifícios, quase como se a noite tivesse explodido, mil e um estilhaços voando no ar. Mas o rapaz quedou-se na expectativa, olhar atento e brilhante. E viu então o ventre branco do raposo, as patas do animal debatendo-se no ar nas vascas da agonia. Depois, encaminhou-se para lá.
Em redor, a agitação e o tumulto eram indescritíveis. As galinhas debatiam-se e cacarejavam, os patos grasnavam, o pónei escouceava, enlouquecido. Mas a seu lado estava o raposo, o corpo percorrido pelos espasmos da morte. Debruçando-se sobre ele, o rapaz aspirou aquele característico odor vulpino.
Ouviu então o ruído de uma janela a abrir-se no andar de cima, chegando-lhe depois aos ouvidos a voz de March, inquirindo num grito:
- Quem está aí?
- Sou eu - disse Henry. - Acabo de disparar sobre o raposo.
- Oh, meu Deus! Sabe que quase nos matou de susto?
- Ah, sim? Lamento imenso.
- Mas porque é que se levantou?
- Ouvi-o, ou melhor, senti que ele andava por aqui.
- E então, matou-o?
- Sim, está aqui - disse o rapaz, de pé no meio do pátio, erguendo no ar o corpo ainda quente do animal. - Consegue vê-lo, não consegue? Espere um instante. - E, tirando a lanterna eléctrica do bolso, fê-la incidir no corpo morto do raposo, dependurado pela cauda na sua mão robusta. March viu então, em meio às trevas circundantes, a pelagem avermelhada, o ventre alvo, a mancha branca por debaixo do focinho pontiagudo, as patas pendentes, algo grotescas naquela estranha pose, abandonadas, sem vida. Não soube que dizer.
- E uma beleza - disse então ele. - Vai ficar com uma linda pele para poder usar quando lhe apetecer.
- Nunca me há-de ver com uma pele de raposa, disso pode ter a certeza - respondeu ela.
- Oh! - exclamou o rapaz, apagando a lanterna.
- Bom, acho que agora devia vir para dentro e voltar a deitar-se - aconselhou ela.
- Sim, provavelmente é o que farei. Que horas são?
- Que horas são, Jill? - perguntou March lá para dentro. Era uma menos um quarto.
Naquela noite, March teve outro sonho. Sonhou que Banford tinha morrido, e que ela, March, de coração despedaçado, chorava amargamente. Depois, tinha de pôr Banford num caixão. E o caixão não era mais do que a tosca caixa de madeira que tinham na cozinha, junto ao fogo, e da qual se serviam para guardar a lenha miúda. Este era o caixão, pois não havia mais nada que pudesse servir, pelo que March, perfeitamente desesperada, andava numa aflição doida à procura de qualquer coisa com que forrar a caixa, de qualquer coisa que a tornasse mais macia, de qualquer coisa com que pudesse também cobrir o pobre corpo morto da sua querida amiga. Pois não podia deixá-la ali deitada só com o seu roupão branco vestido, naquela horrível caixa de madeira. Assim, procurou e voltou a procurar, rebuscando tudo, pegando nisto e naquilo, examinando peça após peça para logo as pôr de lado, o coração opresso pela frustração de nada encontrar na agonia do seu sonho. E em todo o seu desespero subconsciente nada mais achou que pudesse servir, tão-só uma pele de raposo. Sabia que isso não estava certo, que não era próprio para o fim em vista, mas foi tudo o que pôde achar. E então dobrou a cauda do raposo, pousando nela a cabeça da sua querida Jill, e aproveitou a pele do mesmo para com ela cobrir a parte superior do corpo, de tal modo que este tinha o ar de jazer sob uma colcha escarlate, de um vermelho chamejante. À vista disso, desatou a chorar convulsivamente, em copioso pranto, para depois acordar e dar consigo banhada em lágrimas, escorrendo-lhe, ácidas, pelo rosto.
Pela manhã, a primeira coisa que ambas fizeram, tanto ela como Banford, foi saírem para ir ver o raposo. O rapaz colocara-o no barracão, pendurado pelas patas traseiras, a cauda inerte caída para trás. Era um belíssimo macho em pleno apogeu, revestido da sua magnífica pelagem de Inverno, espessa e farta, com uma bonita cor vermelho-dourada, tornando-se acinzentada ao passar para o ventre, este já de um branco alvíssimo. Na cauda, comprida e abundante, predominavam o preto e o cinzento, delicada amálgama que morria ao chegar à ponta, de um branco imaculado.
- Pobre animal! - disse Banford. - Se não fosse tão patifório, tão ladrão, era caso para ter pena dele.
March nada disse, quedando-se, absorta, com todo o seu peso assente num só pé, a anca saliente, o outro pé a arrastar, abandonado e indolente. As faces pálidas, abria os seus grandes olhos negros, como que hipnotizada pela visão do corpo morto do animal, suspenso de cabeça para baixo. Tinha o ventre tão branco, tão macio... Lembrava a branca alvura da neve, pensou ela. E passou-lhe docemente a mão por cima. A cauda, de um negro maravilhoso, resplandecente, era farta, roçagante, uma maravilha! E, passando-lhe também a mão por cima, sentiu-se estremecer. Repetidas vezes, mergulhou os dedos por entre a abundante pelagem da cauda, espessa e farta, percorrendo-a depois com a mão num lento movimento descendente. Que cauda maravilhosa, tão afilada e espessa, tão bela e resplandecente! E ei-lo ali morto! Os olhos escuros e ausentes, franziu a boca num esgar, os lábios contraídos. Depois, tomou então aquela cabeça nas mãos, quedando-se, absorta.
Henry andava por ali, de um lado para o outro, pelo que Banford acabou por se ir embora, virando-lhe ostensivamente as costas. March, com a cabeça do raposo nas mãos, ficou ao imóvel, mente perturbada e confusa. Estava pensativa, admirando aquele comprido focinho, alongado e esguio. Por qualquer razão, este lembrava-lhe uma colher ou uma espátula. E sentiu que semelhante coisa lhe era incompreensível. Para si, o animal era um bicho estranho, enigmático, fora da sua compreensão. E que belos bigodes prateados ele tinha, mais pareciam de gelo, quais finíssimas estalactites. As orelhas espetadas, cheias de pêlo por dentro, destacavam-se por sobre aquele comprido nariz de colher, delgado e esguio. Emergindo deste, viam-se uns dentes maravilhosamente brancos, lançados para a frente, dentes para abocanhar e morder, penetrando fundo nas entranhas da presa, dentes que despedaçavam, que rasgavam, que mordiam, dentes ávidos de sangue, ávidos de vida.
- É uma beleza, não é? - disse Henry, de pé, junto dela.
- Oh, sim! É um magnífico raposo! E bem grande! Ainda gostaria de saber de quantas galinhas deu ele cabo - retorquiu ela.
- De bastantes, estou certo. Pensa que será o mesmo raposo que viu no Verão?
- Acho que sim, que deve ser. Provavelmente é mesmo ele - volveu ela.
Ele observou-a, atento, sem contudo, chegar a qualquer conclusão. Em parte, ela parecia--lhe muito tímida, inexperiente, quase virginal, mas, por outro lado, revelava-se igualmente bastante austera, prosaica, azeda mesmo. Quando falava, aquilo que dizia dava--lhe sempre a sensação de não concordar com a sua enigmática expressão, destoando do que ressaltava dos seus grandes olhos negros.
- Vai esfolá-lo? - perguntou ela.
- Sim, depois de tomar o pequeno-almoço e de ir buscar uma tábua onde o possa pregar.
- Mas que cheiro tão forte que ele deita, palavra! PuahhL. Vou ter de lavar muito bem as mãos. Não sei que me deu para ser tão parva ao ponto de lhe pegar - disse então ela, olhando para a sua mão direita, aquela que antes passeara pelo ventre e pela cauda do animal, agora levemente manchada de sangue devido à marca escura que aquele tinha na pele.
- Já reparou como as galinhas ficaram tão assustadas mal o cheiraram? - perguntou ele.
- Sim, lá isso é verdade!
- Tenha cuidado não vá apanhar pulgas, olhe que ele está cheio delas!
- Oh! Pulgas!... - replicou ela com indiferença.
Nesse mesmo dia, veio mais tarde a ver a pele do raposo esticada e pregada numa tábua, dir-se-ia quase que crucificada. E sentiu um estranho mal-estar.
O rapaz continuava furioso. Andava por ali sem dizer palavra, de lábios cerrados, como se houvesse engolido parte dos queixos. Mas, como de costume, comportava-se de forma correcta, sempre cortês e afável. Não disse absolutamente nada sobre as suas intenções. E, além do mais, não abordou March o dia inteiro.
Naquela noite, deixaram-se estar na sala de jantar, pois Banford não queria voltar a vê-lo na sua salinha. Uma enorme acha ardia suavemente na lareira. Todos pareciam ocupados: Banford a escrever cartas, March a coser um vestido e ele a consertar qualquer pequeno utensílio. De tempos a tempos, Banford parava de escrever a fim de descansar os olhos, aproveitando então para dar uma olhadela em seu redor. O rapaz estava de cabeça baixa, debruçado sobre o seu trabalho, o rosto oculto entre os braços.
- Ora, vejamos! - disse Banford. - Qual o comboio em que pensa partir, Henry?
Ele levantou a cabeça, olhando de frente.
- No de amanhã de manhã - respondeu.
- Qual, no das oito e dez ou no das onze e vinte?
- No das onze e vinte, suponho eu - replicou ele.
- Mas isso é só depois de amanhã, não é? - disse Banford.
- Sim, é verdade, é só depois de amanhã.
- HummL. - murmurou Banford, voltando à sua escrita. Mas, na altura em que lambia conscienciosamente o envelope para depois o fechar, voltou a perguntar: - E quais são os seus planos para o futuro, se me permite a pergunta?
- Planos? - volveu ele, o rosto afogueado e colérico.
- Sim, sobre você e Nellie, se sempre vão por diante com as vossas intenções. Quando é que a boda terá lugar? - Falava num tom sarcástico, escarninho.
- Oh, a boda! - retorquiu ele. - Não sei.
- Mas não tem nenhuma ideia? - disse Banford. - Então você vai-se embora na sexta e deixa as coisas como estão?
- Bom, e porque não? Podemos sempre escrever-nos.
- E claro que sim. Mas eu gostava de saber por causa da quinta. É que, se a Nellie se vai casar assim de repente, vou ter de procurar outra sócia.
- Mas ela não poderia ficar aqui mesmo depois de casar? - perguntou ele, sabendo muito bem qual seria a resposta.
- Oh! - disse Banford. - Isto não é lugar para um casal. Primeiro, porque não há trabalho suficiente para ocupar um homem. E depois, o rendimento que isto dá é quase nulo. Não, é absolutamente impossível pensar em ficar aqui depois de casar. Absolutamente!
- Está bem, mas eu também não estava a pensar em ficar cá - respondeu ele.
- Óptimo, era isso mesmo que eu pretendia saber. E então a Nellie? Sendo assim, quanto tempo irá ela ficar aqui comigo?
Os dois antagonistas enfrentaram-se, olhos nos olhos.
- Isso já não lhe sei dizer - respondeu ele.
- Ora, vamos, deixe-se disso! - exclamou ela, desdenhosa e petulante. - Tem de ter uma ideia daquilo que pretende fazer, já que pediu uma mulher em casamento. A não ser que seja tudo conversa fiada.
- Conversa fiada? Porque havia de ser conversa fiada?... Penso voltar para o Canadá.
- E vai levá-la consigo?
- Evidentemente.
- Estás a ouvir isto, Nellie? - disse então Banford.
March, até aí de cabeça baixa sobre a costura, ergueu então o rosto, um acentuado rubor róseo nas faces pálidas, um riso estranho, sardónico, nos olhos negros, na boca franzida.
- E a primeira vez que ouço dizer que vou para o Canadá - disse.
- Bem, alguma vez tinha de ser a primeira, não é assim? - volveu o rapaz.
- Sim, suponho que sim - respondeu ela em tom de desprendido. E voltou à sua costura.
- Estás mesmo disosta a ir para o Canadá, Nellie? Achas que sim? - perguntou Banford.
March voltou a erguer os olhos.
E deixando descair os ombros, abandonando a mão no regaço, de agulha entre os dedos, respondeu:
- Depende do modo como tiver de ir. Não me parece que queira ir apertada numa terceira classe, como simples mulher de um soldado. - E acrescentou: - Receio não estar habituada a tais coisas.
O rapaz fitou-a de olhos brilhantes.
- Prefere então ficar por aqui enquanto eu vou à frente ver como correm as coisas? - inquiriu.
- Sim, se não houver outra alternativa - replicou ela.
- Assim é que é ter juízo. Não tomes qualquer compromisso definitivo, olha que é bem melhor - disse Banford. - Mantém-te livre para responderes sim ou não depois de ele ter voltado a dizer que já arranjou onde ficarem, Nellie. Qualquer outra atitude é uma loucura, uma loucura.
- Mas não acha - disse o jovem - que nos devíamos casar antes de eu partir?
Depois, conforme o caso, iriamos então juntos ou um primeiro e o outro depois.
- Acho que isso é uma péssima ideia! - exclamou Banford num grito.
Ela olhou em frente, os olhos errando, abstractos, pela sala.
- Bem, não sei - respondeu. - Vou ter de pensar nisso.
- Porquê? - pergroveitando a oportunidade para a fazer falar.
- Porquê? - repetiu ela. Repetira a pergunta em tom trocista, e, apesar do leve rubor que voltara a subir-lhe às faces, olhava para ele com um sorrido nos lábios. - Acho que há muitas e boas razoes para isso.
Ele observava-a em silencio. Sentiu que ela lhe escapava, que se conluiara com Banford contra ele. Lá estava de novo aquela estranha expressão, aqueles olhos sardónicos... E sabia que ela riria, trocista, de tudo aquilo que ele dissesse deste mundo de todo o género de vida que ele lhe oferecesse.
- É claro - disse então ele - que não tenciono obrigá-la a fazer nada contra vontade.
- Espero bem que não, ora essa! - exclamou Banford em ar indignado.
À hora de se irem deitar, Banford disse a March, na sua voz lamurienta:
- Levas-me a botija de água quente para cima, Nellie? Fazes-me esse favor?
- Sim, claro que sim - respondeu March, com aquela espécie de contrariada condescenda que tantas vezes revelava para com a sua querida e volúvel Jill.
As duas mulheres subiram então as escadas. Passado algum tempo, March disse lá de cima:
- Boa noite, Henry. Já não devo ir aí abaixo. Não se esqueça depois de apagar a luz e de tratar da lareira, está bem?
No outro dia, Henry apareceu de semblante carregado, um ar fechado no jovem rosto sombrio, dir-se-ia quase um menino amuado. Passou o tempo a cogitar, remoendo pensamentos sobre pensamentos. Teria gostado que March casasse com ele e o acompanhasse de volta ao Canadá. E, pelo menos até ali, sempre se convencera de que ela assim faria. Porque a queria, isso não sabia. Mas sabia que a queria. Desejava-a com um tal ardor que todo ele se contorcia de raiva ao saber-se contrariado. Na sua fúria juvenil, era para ele insuportável que o pudessem contrariar. Mas tinham--no contrariado... E isso era-lhe insuportável, absolutamente insuportável! Sentia-se possuído de uma tal fúria interior que nem sabia o que fazer. Mas optou por controlar-se, por refrear a sua raiva. Pois, apesar de tudo, as coisas ainda podiam vir a alterar-se. Ela ainda podia voltar para ele. E claro que sim. Tinha o dever de o fazer, era a sua obrigação. E tinha todo o direito, nada a podia impedir.
Lá para a tarde, o ambiente voltou a tornar--se bastante tenso. Ele e Banford tinham-se evitado durante todo o dia. De facto, Banford fora até à cidadezinha próxima no comboio das 11 e 20, pois era dia de mercado, devendo depois regressar no das 16 e 25. Quase ao cair da noite, Henry viu a sua figurinha esguia, vestida com um casaco azul-escuro e uma boina larga da mesma cor, a atravessar o prado vindo da estação. Deixou-se ficar onde estava, imóvel debaixo de uma pereira brava, a terra a seus pés juncada de folhas velhas e secas. E quedou-se a observar aquela figurinha azul que avançava tenazmente pelo prado inverniço, íngreme e escabroso. Tinha os braços cheios de embrulhos, pelo que avançava com grande lentidão, pequena e frágil como era, mas com aquela ponta de diabólica determinação que ele tanto detestava nela. Continuava oculto na sombra da pereira, quase invisível debaixo desta. E se os olhares pudessem tornar desejos em realidades, ela ver-se-ia tolhida por duas enormes grilhetas de ferro, rodeando-lhe os tornozelos à medida que avançava. "Não passas de um estuporzinho, essa é que é essa", murmurava ele entredentes através da distância. "Um estuporzinho, um reles estuporzinho. Espero que ainda venhas a pagar por todo o mal que me fizeste sem motivo algum. Espero bem que sim, meu grande estuporzinho. Espero que o venhas a pagar, e a pagar caro. E hás-de pagar, podes crer, se os desejos ainda têm algum valor. Meu estuporzinho, não passas de um estuporzinho asqueroso, é o que é."
Ela avançava com grande dificuldade, subindo lentamente a ladeira. Mas mesmo que ela escorregasse a cada passo, rolando por ali abaixo até um qualquer abismo insondável, ele não mexeria um dedo para a ajudar a transportar os embrulhos. Ah! Lá ia March, calcando a terra com o seu passo largo, de calções e casaquinho cintado! Descendo a colina a grandes passadas, dando mesmo algumas curtas corridas de quando em vez, toda embalada na sua grande solicitude e desejo de ir em socorro da sua pequenina Banford. O rapaz observava-a, furioso, o coração a transbordar de raiva. Vê-la a saltar valas, a correr que nem uma doida por ali abaixo como se a casa estivesse a arder, tudo isso só para ir ao encontro daquele objectozinho negro que rastejava colina acima! Assim, Banford parou, à espera que ela lá chegasse. E March, uma vez lá, pegou em todos os embrulhos, excepto num ramo de crisântemos amarelos. Eis tudo quanto Banford carregava agora, um ramo de crisântemos amarelos!
"Sim, ficas muito bem assim, não há dúvida", murmurou ele baixinho na penumbra do entardecer. "Ficas muito bem assim, para aí feita parva agarrada a um ramo de flores, lá isso ficas! Se gostas assim tanto de flores, toda abraçada a elas como vens, faço-tas para o chá, está descansada. E volto a dar-tas ao pequeno-almoço, aí volto, volto! Vou passar a dar-te flores, só flores e nada mais."
E quedou-se a observar a marcha das duas mulheres. Podia agora ouvir-lhes as vozes. March, franca como sempre, pondo um leve tom de repreensão na ternura da voz, Banford falando baixinho, como que a murmurar, de forma algo vaga e abstracta. Eram, evidentemente, duas boas amigas. Não conseguiu distinguir aquilo que diziam enquanto não chegaram junto da vedação que delimitava o prado adjacente à casa. Uma vez lá chegadas, viu então March transpor a cancela no seu jeito varonil, segurando todos os embrulhos nos braços, enquanto a voz rabugenta de Banford soava no ar parado:
- Porque é que não me deixas ajudar-te a levar os embrulhos? - Havia na sua voz um estranho tom de queixume, embargando-lhe as palavras. Ouviu-se então a voz de March, firme e sonora, respondendo com negligência:
- Oh, eu cá me arranjo. Não te preocupes. Tu é que tens de recuperar as forças, cansada como vens.
- Sim, isso é muito bonito - retrucou Banford, agastada. - Tu estás sempre a dizer "Não te preocupes" e depois passas o tempo toda ofendida porque ninguém te dá atenção.
- Mas quando é que andei ofendida? - perguntou March.
- Sempre. Andas sempre ofendida. Por exemplo, agora estás ofendida comigo por eu não querer que aquele rapaz venha viver cá para a quinta.
- Isso não é verdade, não estou nada ofendida - replicou March.
- Estás, que eu bem sei que estás. Quando ele se for embora, vais andar toda amuada por causa disso, tenho a certeza.
- Ah, sim? - volveu March. - Bom, veremos.
- Sim, infelizmente eu bem sei que vai ser assim. E dói-me pensar como tu te deixaste apanhar com tanta facilidade. Não posso imaginar como te podes ter rebaixado a esse ponto.
- Eu não me rebaixei coisíssima nenhuma - respondeu March.
- Então não sei que nome lhe dás. Deixar um rapaz como aquele, tão insolente e descarado, fazer de ti uma parva. Realmente não sei que ideia fazes tu de ti. Ou julgas que ele vai ter algum respeito por ti depois de te ter apanhado? Palavra que não gostaria nada de te estar na pele se casares com ele, pois não vai ser nada fácil descalçar essa bota.
- E claro que não gostarias. Aliás, as minhas botas são demasiado grandes para ti, além de não terem metade da elegância das tuas - disse March com mal disfarçado sarcasmo, arrependendo-se de seguida.
- Sempre pensei que fosses muito mais orgulhosa, palavra que sim. Uma mulher tem de se impor, tem de se fazer valer, especialmente tratando-se de um fulano como aquele. Porquê?... Porque ele é demasiado atrevido, eis porquê. Até mesmo na forma como se nos impôs logo de início.
- Nós é que lhe pedimos para ficar - objectou March.
- Mas só depois de ele quase nos ter obrigado a isso. E ele é tão arrogante e autocon-vencido. Meu Deus, como ele me irrita! Deixa--me sempre os nervos em franja, de tão insolente e provocador. E é-me simplesmente impossível perceber como é que tu podes permitir que ele te trate de uma forma tão reles.
- Isso não é verdade, eu não deixo que ele me trate de uma forma reles - respondeu March. - Não te preocupes com isso, nunca ninguém me tratará de uma forma reles. Nem mesmo tu, fica sabendo. - Havia um certo calor na sua voz, misto de ternura e desafio.
- Pois é, eu já sabia que ia acabar por pagar as favas - disse Banford amargamente. - É sempre assim, sou sempre eu quem leva com as culpas. Tenho a impressão que o fazes de propósito para me magoar.
Avançavam agora em silêncio, subindo a ladeira íngreme e ervosa. Ultrapassado o cume, continuaram depois por entre as urzes e o tojo. Do outro lado da sebe atrás da qual se ocultava, o rapaz seguia-as a curta distância, perdido nas sombras do crepúsculo. De vez em quando, através da enorme sebe de velhos espinheiros, altos como árvores, ele entrevia as duas figuras escuras a treparem colina acima. Ao chegar ao cimo da ladeira, viu a casa envolta nas sombras do crepúsculo, com uma velha e grossa pereira quase encostada à empena mais próxima e uma pequenina luz amarelada tremulando nas janelinhas laterais da cozinha. Ouviu depois o ruído do trinco correndo no ferrolho e viu a porta da cozinha a abrir-se, banhada em luz, quando as duas mulheres entraram. Portanto, já estavam em casa.
E com que então era isso que pensavam dele! Ele era uma espécie de ouvinte por natureza, sempre à escuta, de ouvido pronto, portanto, nunca ficava surpreendido com o que quer que ouvisse. Aquilo que as pessoas pudessem dizer a seu respeito nunca o afectava, pois, pessoalmente, isso era-lhe indiferente. Só se sentia bastante surpreendido com o modo como as mulheres se tratavam uma à outra. E detestava Banford com um ódio feroz, ao mesmo tempo que voltava a sentir--se atraído por March. Mais uma vez, algo dentro de si o impelia irresistivelmente para ela. Sentia haver um elo entre eles, um vínculo secreto a uni-los, algo de tão íntimo e reservado que excluía quaisquer terceiros, fazendo com que eles se possuíssem secretamente um ao outro.
E voltou a acreditar que ela acabaria por aceitá-lo. O sangue subitamente inflamado, acreditou que ela concordaria em casar com ele a breve trecho, muito provavelmente pelo Natal. Sim, pois o Natal já não vinha longe. Aquilo que ele desejava, fosse qual fosse a sequência, era conseguir levá-la a um casamento apressado e à sua efectiva consumação. Então, quanto ao futuro, isso depois se veria. Aquilo que desejava era que tudo acontecesse de acordo com os seus planos. Assim, naquela noite, esperava que ela aceitasse ficar a sós com ele depois de Banford ter subido para se ir deitar. Desejava poder tocar as suas faces suaves, cremosas, o seu rosto estranho, assustado. Desejava olhar de perto os seus grandes olhos negros, ler-lhe o temor nas pupilas dilatadas. E desejava mesmo poder pousar-lhe a mão no peito, sentir-lhe os seios macios sob o casaco. Só de pensar nisso, o coração batia-lhe com mais força, pulsando rápido e descompassado, tão grande era o seu desejo de o fazer. Queria certificar-se de que por baixo daquele casaco havia mesmo uns seios de mulher, suaves e macios. Pois ela andava sempre com aquele casaco de fazenda castanha tão hermeticamente abotoado até ao pescoço!
E parecia-lhe a ele que aqueles suaves seios de mulher, andando sempre aferrolhados dentro daquele uniforme, tinham em si algo de perigoso, de secreto. Além do mais, tinha a impressão de que eles deveriam ser muito mais suaves e macios, muito mais belos e adoráveis, encerrados assim naquele casaco, do que o seriam os seios de Banford, ocultos por baixo das suas blusas finas e dos seus vestidos de gaze. Banford tinha certamente uns seios pequenos e rijos, de uma dureza férrea, pensava ele para consigo. Pois, apesar de toda a sua fragilidade, hipersensibilidade e delicadeza, os seus seios deveriam ser duas pequeninas bolas de ferro, ao passo que March, debaixo do seu casaco de trabalho, rijo e grosseiro, teria certamente uns seios brancos e macios, de uma alvura, de uma suavidade por desvendar. E, enquanto assim pensava, sentia o sangue ferver-lhe nas veias, correndo, esbraseado, em frenética galopada.
Quando por fim, chegada a hora do chá, se decidiu a entrar, esperava-o uma surpresa. Surgindo à entrada da porta, já do lado de dentro, os olhos azuis brilhando-lhe, luminosos, no rosto vermelho e vivo, a cabeça ligeiramente descaída para a frente como era seu hábito, deteve-se ao entrar, hesitando um pouco no limiar da porta para observar o interior da sala, atento e cauteloso como sempre, antes de avançar. Trazia vestido um colete de mangas compridas. O seu rosto, qual baga de azevinho, assemelhava-se extraordinariamente a um qualquer elemento exterior que, de repente, ali tivesse irrompido, como se parte do mundo de lá de fora penetrasse portas adentro como um intruso. Nos escassos segundos em que se quedou, hesitante, à entrada da porta, apercebendo-se das duas mulheres sentadas à mesa, cada uma em sua ponta, observando-as então com olhos agudos e penetrantes. E, para seu grande espanto, verificou que March estava com um vestido de crepe de seda verde-escuro. Ficou boquiaberto, tal foi a surpresa. Ele não ficaria mais surpreendido se ela porventura aparecesse subitamente de bigode.
- Mas então - disse ele - afinal também usa vestidos?
Ela ergueu os olhos, duas fundas manchas róseas nas faces ruborizadas, e, franzindo a boca num sorriso, respondeu:
- É claro que sim. Que outra coisa esperava que eu usasse senão um vestido?
- Bom, um traje de rapariga do campo, é evidente - retorquiu ele.
- Oh! -- exclamou ela num tom de indiferença. - Isso é só para este sujo e imundo trabalho cá da quinta.
- Então não é esse o seu traje vulgar? - indagou ele.
- Não, pelo menos para trazer por casa - volveu ela. Mas não deixou de corar enquanto lhe servia o chá. Ele sentou-se à mesa, puxando a sua cadeira do costume, totalmente incapaz de desviar os olhos daquela figura. O vestido era um vestido inteiro, muito simples, de crepe azul esverdeado, com uma tira dourada cosida à volta da gola e outra a debruar as mangas. Era um vestido de mangas curtas, não passando do cotovelo, de corte direito, muito sóbrio, com uma gola redonda que deixava ver o seu pescoço alvo e macio. Os braços, fortes e musculados, de músculos firmes e bem feitos, já ele conhecia, pois vira-a muitas vezes de mangas arregaçadas. Contudo, ele olhava-a como que hipnotizado, mirando-a e remirando-a da cabeça aos pés.
Banford, sentada na outra ponta da mesa, não dizia palavra, mas manifestava o seu nervosismo na forma ruidosa como virava e revirava a sardinha que tinha no prato. Mas ele esquecera-se totalmente da sua existência, quedando-se, embasbacado, a olhar para March enquanto ia comendo o seu pão com margarina a grandes dentadas, sem sequer ligar ao chá já quase frio.
- Bem, nunca vi nada que mudasse assim tanto uma pessoa! - murmurou entre duas dentadas.
- Oh, meu Deus! - exclamou March, cada vez mais ruborizada. - Devo estar com um ar de bicho do outro mundo!
E, levantando-se rapidamente, pegou no bule e levou-o para a cozinha, voltando a pôr a chaleira ao lume. E quando ela se debruçou sobre a lareira, agachando-se, com o seu vestido verde colado ao corpo, o rapaz contemplou-a com olhos ainda mais esbugalhados do que antes. Através do crepe, as suas formas de mulher pareciam agora suaves e femininas. Ao voltar a erguer-se, dando alguns passos na cozinha, ele viu-lhe as pernas gráceis movendo-se, suaves, sob a saia curta cortada à moda. Calçara umas meias de seda preta e uns sapatinhos de verniz com graciosas fivelas douradas.
Não, não podia ser a mesma pessoa. Estava mudada, parecia-lhe alguém totalmente diferente. Acostumado a vê-la sempre vestida com os seus pesados calções, largos e folgados nas ancas, apertados nos joelhos, maciços como uma couraça, com umas grevas castanhas e pesadas botas, nunca lhe ocorrera que ela tivesse pernas e pés de mulher. E, de repente, vendo-lhe as pernas finas moldadas pela saia, dava-se conta disso, apercebia-se do seu ar feminino, acessível. Sentindo-se corar até à raiz dos cabelos, enfiou o nariz na chávena e sorveu o chá algo ruidosamente, facto que fez com que Banford se remexesse toda na cadeira. E, de súbito, algo de estranho sucedeu: sentiu-se um homem, já não um jovem mas sim um homem, um homem adulto, maduro. Sentiu-se um homem com todo o peso das graves responsabilidades do homem adulto. E uma estranha calma, uma espécie de gravidade abateu-se sobre ele, invadindo-lhe o espírito, dominando-lhe a mente. Sentiu-se um homem, calmo e tranquilo, a alma algo opressa pelo peso do seu destino de macho.
Suave e acessível no seu vestido... Este pensamento dominou-o com a força avassaladora de uma nova responsabilidade, de uma responsabilidade para sempre presente.
- Oh, por amor de Deus! Digam alguma coisa, não estejam assim tão calados! - explodiu Banford, enervada e indisposta. - Isto mais parece um funeral. - O rapaz olhou então para ela. Incapaz de suportar aquele rosto, ela viu-se obrigada a desviar a cabeça.
- Um funeral! - exclamou March, crispando a boca num sorriso. - Oh, isso vai ao encontro do meu sonho!
Viera-lhe subitamente à ideia a visão de Banford jazendo na caixa de madeira por único caixão.
- Porquê, estiveste a sonhar com um casamento? - disse Banford, com ácido sarcasmo.
- Sim, se calhar estive - respondeu March.
- Qual casamento? - perguntou o rapaz.
- Já não me lembro - retorquiu March.
Estava tímida e pouco à vontade naquela tarde, pois, apesar de usar um vestido, tinha um comportamento muito mais comedido do que com o seu uniforme de trabalho. Sentia-se desprotegida e algo exposta, quase imprópria, obscena mesmo, para ali vestida daquela forma.
Falaram então muito por alto da partida de Henry, marcada para a manhã seguinte, conversando de forma vaga e desinteressada, posto o que foram tratar dos habituais preparativos. Mas nenhum ousou falar daquilo que realmente lhe ia no espírito, mostrando-se bastante calmos e amigáveis durante toda a tarde. Banford praticamente não abriu a boca, apesar de lá por dentro se sentir tranquila, quase amável até.
Às nove horas, March trouxe o tabuleiro com o sempiterno chá e um pouco de carnes frias que Banford lá conseguira arranjar. Sendo esta a última ceia, Banford procurava não ser desagradável. Até sentia uma certa pena do rapaz, achando-se na obrigação de ser tão gentil quanto possível.
Quanto a ele, o seu maior desejo era que ela se fosse deitar, no que, por via de regra, era sempre a primeira. Mas ela deixou-se ficar sentada na cadeira, sob a luz do candeeiro, relanceando os olhos pelo livro de quando em vez e vigiando o lume. Pairava agora na sala uma profunda quietude. Então, em voz um tanto abafada March decidiu-se a quebrar o silêncio, perguntando a Banford:
- Que horas são, Jill?
- Dez e cinco - respondeu esta, olhando o relógio de pulso.
Depois, nada mais. De novo o silêncio. O rapaz erguera os olhos do livro preso entre os joelhos. Tinha no rosto largo e algo felino um ar de muda obstinação, nos olhos atentos e vivos a insistência da espera.
- E que tal ir para a cama? - disse finalmente March.
- Quando quiseres, estou pronta - volveu Banford.
- Oh, muito bem - disse March. - Vou arranjar-te a botija.
E assim fez. Uma vez preparada a botija de água quente, acendeu uma vela e levou a botija para cima. Banford deixou-se estar sentada, atenta ao menor ruído. Depois, reaparecendo ao cimo das escadas, March voltou a descer.
- Pronto, já está - disse então. - Não vais para cima?
- Sim, é só um minuto - respondeu Banford. Mas os minutos foram passando e ela continuou sentada na cadeira sob a luz do candeeiro.
Henry, cujos olhos, espreitando, observadores, de sob as sobrancelhas, brilhavam como os de um gato, o rosto parecendo cada vez mais largo e arredondado nos seus contornos felinos, na sua inalterada obstinação, ergueu--se então a fim de tentar a sua cartada.
- Acho que vou até lá fora ver se descubro a fêmea daquele raposo - disse. - Pode ser que ande por aí a rondar. Não quer vir também, Nellie, a ver se vemos alguma coisa? É só um minuto...
- Eu?! - exclamou March, erguendo os olhos para ele, um ar simultaneamente perplexo e interrogativo no rosto surpreso.
- Sim, você. Venha daí, vá... - insistiu ele. Era espantoso como a sua voz podia parecer tão quente, tão persuasiva, como podia tornar-se tão suave e insinuante. Ao ouvi-la, Banford sentiu o sangue ferver-lhe, o eco daquele som escaldando-lhe as veias.
- Venha, é só um minuto - teimou ele, baixando os olhos para ela, para aquele rosto erguido, pálido e inseguro.
E então, como que atraída pela força magnética daquele rosto jovem e corado que a olhava com insistente fixidez, ela acabou por se pôr de pé.
- Nunca pensei que alguma vez te atrevesses a sair a esta hora da noite, Nellie! - gritou Banford.
- Não faz mal, é só por um minuto - disse o rapaz, voltando os olhos para ela e falan-do-lhe num estranho tom de voz, quase que num uivo, agudo e sibilante.
March olhava ora para um ora para outro, parecendo abstracta e confusa. Banford levantou-se então por sua vez, preparando-se para a luta.
- Ora esta, mas isso é ridículo! Está um frio de rachar! Tu ainda acabas por morrer gelada com esse vestido tão fino. E ainda por cima com esses sapatecos que não aquecem nada. Não te admito que faças uma coisa dessas, ouviste?
Houve uma pequena pausa. Banford, toda encrespada, mais parecia um galo de briga, fazendo frente a March e ao rapaz.
- Oh, não acho que tenha de se preocupar - retorquiu ele. - Uns instantes ao relento nunca fizeram mal a ninguém. Vou buscar a manta que está em cima do sofá da sala de jantar. Vamos andando, Nellie?
Havia na sua voz tanta raiva, desprezo e fúria quando falava com Banford quanto de ternura e orgulhosa autoridade ao dirigir-se a March. Então esta disse:
- Sim, vamos andando.
E, virando costas, dirigiu-se com ele para a porta.
Banford, de pé no meio da sala, irrompeu de súbito em grande pranto, gritando e soluçando convulsivamente, o corpo sacudido por espasmos. Cobrindo o rosto com as suas pobres mãos, finas e delicadas, os ombros magros agitados por um tremor agónico, chorava desabaladamente. Já a chegar à porta, March olhou então para trás.
- Jill! - gritou ela fora de si, num tom desvairado, como alguém que desperta de repente. E deu a impressão de querer correr para junto da sua querida amiga.
Mas o rapaz tinha o braço de March bem sujeito sob a sua mão jovem e forte, pelo que ela não pôde dar um passo. E não sabia porque é que lhe era impossível mover-se. Tudo se passava como num sonho, quando o coração tenta empurrar o corpo para diante mas este é incapaz de se mover.
- Deixa estar - disse o rapaz com brandura. - Deixa-a chorar. Deixa-a chorar que é melhor. Mais tarde ou mais cedo, teria sempre de acabar por chorar. E as lágrimas ajudá-la--ão, aliviar-lhe-ão os sofrimentos. Só lhe podem fazer bem, podes crer.
Assim, arrastou March lentamente até à porta, obrigando-a a avançar. Mas não pôde impedi-la de lançar um último olhar para a pobre figurinha que ali ficava, de pé, no meio do quarto, o rosto entre as mãos, os ombros magros sacudidos por espasmos, chorando amargamente.
Ao chegarem à sala de jantar, ele agarrou na manta e disse-lhe:
- Vá, embrulha-te nisto.
Ela obedeceu e continuaram a avançar até atingirem a porta da cozinha, com ele sempre a segurá-la pelo braço, com ternura e firmeza, ainda que ele nem sequer se desse conta disso. Mas, ao ver a noite lá fora, teve um súbito movimento de recuo.
- Eu tenho de ir ter com a Jill! - exclamou, então. - Tenho, tenho! Tenho, sim, tenho!
O seu tom era peremptório. O rapaz soltou--lhe então o braço e ela voltou-se para dentro. Mas, voltando a agarrá-la, ele impediu-a de avançar.
- Espera um minuto - disse. - Espera um minuto. Mesmo que tenhas de ir, não vás ainda.
- Deixa-me! Deixa-me! - gritou ela. - O meu lugar é ao lado da Jill! Pobre pequenina, pobre querida, os seus soluços são de cortar o coração!
- Sim - disse o rapaz amargamente. - Cortam o coração, isso é verdade. O dela, o teu e também o meu.
- O teu coração? - perguntou March. Ele continuava a segurá-la pelo braço, impedindo-a de avançar.
- Sim, ou será que o meu coração não vale o dela? - respondeu ele. - Achas que não, é?
- O teu coração? - repetiu ela, incrédula.
- Sim, o meu, o meu coração! Ou julgas que não tenho coração? - E, agarrando-lhe a mão com fervor, num caloroso amplexo, comprimiu-a de encontro ao peito, levando-a até ao lado esquerdo. - Aí tens o meu coração - disse -, já que pareces não acreditar nele.
Foi o espanto que a fez ficar, prendendo-a ali. E sentiu então o poderoso bater do coração dele, forte e profundo, tão terrível como algo vindo do além. Sim, assemelhava-se a algo vindo dos abismos do além, a algo de medonho saído do outro mundo, a algo que a chamava, que a atraía irremediavelmente. E um tal apelo paralisou-a, invadindo-lhe o espírito, ecoando-lhe na alma, deixando-a fraca e indefesa. De imediato, esqueceu Jill. Pensar em Jill era-lhe doravante impossível. Não, não podia pensar nela. Sentia-se tão aturdida, tão confusa... Oh, aquele terrível apelo do exterior, aquele apelo do além!...
O rapaz enlaçou-a pela cintura, puxando-a ternamente para si.
- Vem comigo - disse com extrema suavidade. - Vem... Deixa que digamos um ao outro aquilo que temos para dizer.
E, arrastando-a para fora, fechou a porta atrás de si. Ela acompanhou-o então através da escuridão, seguindo pelo caminho do quintal, totalmente dominada pelo seu fascínio, pelo seu mistério. Logo havia ele de ter um coração que pulsasse daquela maneira! E logo havia de lhe ter posto a mão à volta da cintura, ainda por cima por debaixo da manta! Sentia-se demasiado confusa para pensar em quem ele era ou no que ele era.
Ele levou-a para dentro do barracão, puxando-a para um canto escuro onde havia um caixote de ferramentas com uma tampa, comprido e baixo.
- Sentemo-nos aqui um instante - disse então ele.
Obedientemente, ela sentou-se a seu lado.
- Dá-me a tua mão - continuou ele.
Ela deu-lhe ambas as mãos e ele tomou-as entre as suas. Jovem como era, sentiu-se estremecer.
- Casas comigo, não casas? Casas comigo antes de eu partir, não é verdade? - rogou ele.
- Porque não? Ao fim e ao cabo, não somos ambos um par de loucos? - respondeu ela.
Ele levara-a para aquele canto a fim de que ela não visse a janela iluminada sempre que olhasse para a casa através da escuridão do pátio e do quintal. Procurava mantê-la totalmente desligada do exterior, sozinha com ele ali dentro do barracão.
- Mas em que sentido é que somos um par de loucos? - perguntou ele. - Se quiseres voltar comigo para o Canadá, tenho um emprego e um bom salário à minha espera, além de que é um lugar calmo e agradável, perto das montanhas. E porque não casarás tu comigo? Sim, porque não havemos nós de nos casar? Gostaria muito de te ter lá comigo. Gostaria de saber que tinha alguém, alguém com quem me preocupar, alguém com quem pudesse viver o resto da minha vida.
- Mas ser-te-á fácil arranjar outra, outra que te convenha mais - objectou ela.
- Sim, isso é verdade, ser-me-ia fácil arranjar outra rapariga. Eu sei que sim. Mas nenhuma que eu realmente desejasse. Nunca encontrei nenhuma com quem realmente desejasse viver para sempre. Estás a ver, estou a pensar numa união para toda a vida. Se me casar, quero sentir que isso será para toda a vida. Quanto às outras raparigas... Bom, são apenas raparigas, boas para conversar e passear uma vez por outra, nada mais. Digamos, boas para passar um bom bocado, uns momentos de prazer. Mas quando penso na minha vida, então tenho a certeza de que ficaria bastante arrependida se tivesse de me casar com qualquer delas, disso não tenho dúvidas.
- Queres dizer que elas não dariam uma boa esposa?
- Sim, é isso. Ou antes, não é bem isso... Não digo que não cumprissem com seus deveres para comigo, o que eu quero dizer é que... Bom, a verdade é que não sei o que quero dizer. Só sei que, quando penso na minha vida e em ti, então as duas coisas combinam perfeitamente.
- E se não combinassem? - perguntou ela naquele seu tom estranho, algo sarcástico.
- Bem, eu acho que combinam. Deixaram-se então ficar calados durante algum tempo, ali sentados nas trevas do barracão. Desde que se apercebera de que ela era uma mulher, vulnerável e acessível, sentira-se tomado de uma estranha sensação, o espírito opresso e pesado. Não tinha a menor intenção de a possuir, antes pelo contrário. Estremecia à ideia de uma tal proeza, quase que amedrontado. Ela era uma mulher, finalmente vulnerável e acessível ao seu assédio, mas ele evitava antecipar aquilo que o futuro lhe poderia trazer, quase como se isso o apavorasse. Pois este surgia-lhe à semelhança de uma zona de trevas onde sabia que teria de entrar um dia, mas na qual, pelo menos para já, nem sequer queria pensar. Até porque ela era mulher e ele sentia-se responsável pela estranha vulnerabilidade que subitamente descobrira nela.
- Não - disse ela por fim. - Sou uma idiota, é o que é. Disso não restam dúvidas, sou mesmo uma idiota.
- Mas porquê? - perguntou ele.
- Por aceitar continuar com uma conversa destas.
- Referes-te a mim, é isso? - indagou ele.
- Não, refiro-me a mim. Aquilo que estou a fazer é uma asneira, uma rematada asneira.
- Mas porquê? Será porque realmente não queres casar comigo?
- Oh, não é isso. E que, na verdade, não sei se sou contra ou a favor de uma tal ideia, só isso. Não sei, realmente, não sei.
Ele olhou-a através das trevas, perplexo e confuso. Não fazia a menor ideia do que ela pretendia dizer com aquilo.
- E também não sabes se gostas ou não de estar agora aqui sentada ao pé de mim? - perguntou então.
- Não, realmente não sei. Não sei se gostaria de estar noutro lado ou se prefiro estar aqui. Não sei, realmente não sei.
- Gostarias de estar ao pé de Miss Banford? Gostarias de ir para a cama com ela, é isso? - perguntou ele, em tom de desafio.
Ela quedou-se longo tempo silenciosa antes de responder.
- Não - disse por fim. - Não gostaria.
- E achas que gostarias de passar toda a vida ao pé dela? De ficar com ela até estares velha e de cabelos brancos? - continuou ele.
- Não - respondeu ela sem grandes hesitações. - Não me estou a imaginar a mim e à Jill, duas velhas, a vivermos juntas.
- E não achas que quando eu for velho e tu também já fores velha poderemos ainda estar juntos, juntos como agora estamos? - perguntou então ele.
- Bom, não como agora estamos - volveu ela. - Mas acho que posso imaginar... Não, não posso. Não consigo imaginar-te velho. Além de que isso é horrível!
- O quê, ser velho?
- Sim, é claro.
- Não na devida altura - retorquiu ele. - Mas isso ainda vem longe. Há-de chegar, é claro, mas quando chegar gostaria de pensar que também tu lá estarás, que teremos envelhecido os dois juntos.
- Como dois velhos aposentados num asilo de terceira idade - disse então ela secamente.
Aquela espécie de humor disparatado que ela tinha deixava-o sempre espantado. Nunca percebia muito bem aquilo que ela queria dizer. Provavelmente, nem ela mesma o sabia.
- Não - respondeu ele, chocado.
- Não percebo porque estás para aí a repisar isso da velhice - disse ela então. - Ainda não tenho noventa anos, que eu saiba.
- E alguém disse que os tinhas, por acaso? - replicou ele, ofendido.
Virando a cara, ficaram então calados por algum tempo, entregues aos seus pensamentos.
- Não gosto que faças pouco de mim - disse então ele.
- Ah, não? - volveu ela, num tom enigmático.
- Não, porque neste momento eu estou a falar a sério. E quando estou a falar a sério não gosto de brincadeiras.
- Queres dizer que ninguém deve fazer troça de ti - retorquiu ela.
- Sim, é isso. E também significa que eu próprio não estou disposto a brincar. Quando me acontece estar sério é assim, não gosto de brincadeiras ou de troças.
Ela ficou silenciosa por alguns instantes.
Depois, numa voz vaga, abstracta, algo dolorida mesmo, disse então:
- Não, não estou a fazer pouco de ti.
Ele sentiu-se como que tomado por uma onda de calor, o coração pulsando-lhe rápido e quente.
- Então acreditas em mim, não é verdade? - perguntou.
- Sim, acredito em ti - replicou ela, numa voz onde ressaltava algo do seu velho cansaço, da sua habitual indiferença, como se só cedesse por já estar cansada e farta. Mas ele não se importou, só dando ouvidos ao entusiasmo que lhe ia no coração, inflamado e jubiloso.
- Concordas então em casar comigo antes de eu partir, digamos, lá pelo Natal? Concordas?...
- Sim, concordo.
- Óptimo! - exclamou ele. - Então está combinado.
E deixou-se estar sentado em silêncio, quase que inconsciente, o sangue fervendo-lhe nas veias, correndo, escaldante, num estontea-mento de vertigem, pulsando, frenético, num formigar alucinado, todas as suas fibras em fogo, nervos, dobras, circunvoluções. Limitou-se tão-só a apertar-lhe ainda mais as mãos de encontro ao peito, quase sem dar por isso. Quando esta curiosa paixão começou, finalmente, a acalmar, pareceu então despertar para o mundo.
- Seria melhor irmos andando, não achas? - perguntou, como se só então desse conta do frio que estava.
Ela levantou-se sem dizer palavra.
- Beija-me antes de irmos para dentro, agora que disseste que sim - pediu ele.
E beijou-a suavemente na boca com um beijo tímido e rápido, um beijo de jovem assustado. E este fê-la também sentir-se mais jovem, deixando-a assustada e maravilhada ao mesmo tempo, algo cansada também, muito, muito cansada, quase como se se sentisse prestes a adormecer.
Foram então para dentro. E lá estava Ban-ford na sala de estar, agachada junto ao fogo como se fosse uma bruxa, uma estranha bruxinha pequena e mirrada. Ao entrarem, ela olhou em volta com uns olhos avermelhados, mas não se levantou. E ele pensou que ela tinha um ar assustador, sobrenatural, para ali demoníaco, fez uma figa com os dedos.
Banford reparou no rosto corado e jubiloso do jovem, parecendo-lhe que ele estava estranhamente alto, com um ar luminoso, inebriado. E no rosto de March havia uma curiosa expressão, delicada, suave, quase como que um halo, diáfano e leve. Porém, ela desejava poder ocultá-lo, encobri-lo, não deixar que ninguém o visse.
- Até que enfim que chegaram - disse Banford com rudeza.
- Sim, já chegamos - respondeu ele.
- Por algum motivo se demoraram tanto - volveu ela.
- Sim, lá isso é verdade. Já ficou tudo combinado. Vamos casar o mais depressa possível - replicou ele.
- Oh, com que então já está tudo combinado, hem!... Bem, espero que não venham depois a arrepender-se - disse Banford.
- Assim espero - retorquiu ele.
- Vais agora para a cama, Nellie? - perguntou então Banford.
- Sim, vou já.
- Então, por amor de Deus, vem daí! March olhou para o rapaz. Ele observou-a E ela a Banford, os olhos muito vivos e brilhantes no rosto radioso. March deitou-lhe um olhar ansioso, significativo. Gostaria de poder ficar ao pé dele. Gostaria de já se ter casado com ele, de que tudo já fosse um facto consumado. Pois sentia-se subitamente tão segura ao lado dele!... Oh, tão, tão segura!... Sentia-se tão estranhamente segura na sua presença, tão calma, tão tranquila!... Se ao menos pudesse dormir sob a sua protecção, se não tivesse de ir para cima com Jill... Sentia-se agora com medo de Jill. Naquele seu estado de semi-inconsciência, de terna lassidão e abandono, era para si uma agonia ter de subir com Jill, de se ir deitar com ela. E desejava que o rapaz a salvasse. Voltou então a olhá-lo, quase suplicante.
E ele, fitando-a com os seus olhos brilhantes, pareceu adivinhar algo do que lhe ia no espírito. Sentiu-se então angustiado e confuso por ela ter de ir com Jill.
- Não me vou esquecer do que me prometeste - disse, olhando-a bem nos olhos, mergulhando fundo dentro daqueles olhos tristes, assustados, de tal modo que dava a impressão de a abarcar por inteiro, de a envolver de corpo e alma no seu estranho olhar cintilante.
Então, ela sorriu-lhe, um ar lânguido e terno no rosto agora calmo. Voltava a sentir-se segura, segura com ele.
Mas, apesar de todas as precauções do rapaz, veio a deparar-se-lhe um sério revés. Na manhã da sua partida da quinta, convenceu March a acompanhá-lo até à cidade mais próxima, a cerca de oito milhas1 dali, em cujo mercado elas se costumavam abastecer. Uma vez aí, foram ao registo civil tratar dos banhos, declarando que desejavam casar-se. Ele estaria de volta por ocasião do Natal, pelo que o casamento deveria realizar-se por essa altura. Lá pela Primavera, esperava já poder levar March consigo para o Canadá, uma vez que a guerra tinha acabado de vez. Ainda que muito jovem, pusera já algum dinheiro de parte.
- Se possível, deve-se ter sempre algum dinheiro de reserva - declarou ele então.
Assim, ela viu-o partir no comboio que ia para oeste, pois o seu aquartelamento ficava na planície de Salisbury. Viu-o partir com os seus grandes olhos negros muito abertos, tendo a sensação de que, à medida que o comboio se afastava, parte da realidade da vida se afastava com ele, realidade representada por aquele rosto estranho, corado e bochechudo, por aquelas faces largas, por aquela expressão sempre imutada, excepto quando ensombrada pela fúria, pela ira dos sobrolhos carregados, pelos olhos extáticos, vivos e brilhantes, obsessivamente fixos numa estranha imobilidade. Era isto que agora acontecia. Debruçado da janela da carruagem enquanto o comboio se punha em andamento, lá estava ele a dizer--lhe adeus e a fitá-la de olhos fixos, uma expressão inalterada no rosto parado, nos músculos imóveis. Não havia qualquer emoção naquele rosto estático. Apenas os olhos se estreitaram num olhar fixo, intencional, quase como os de um gato ao deparar subitamente com algo que o faz estancar. Assim, os olhos do rapaz quedaram-se fixos e extáticos enquanto o comboio se afastava, deixando-a para trás com uma intensa sensação de solidão e abandono. Na falta da sua presença física, parecia-lhe que já nada restava dele, que ficava absolutamente vazia, sem nada de nada. Tão-só o seu rosto lhe ficara gravado na memória: as faces cheias, coradas, a expressão imutável, estática, o nariz comprido e rectilíneo, os olhos fixos que o encimavam. Tudo aquilo de que se lembrava era do modo como ele ria, franzindo cómica e subitamente o nariz, tal como um cachorrinho quando se põe a rosnar na brincadeira. Mas dele, de si próprio e daquilo que ele era, nada sabia, pois nada ficara dele no momento em que a deixou.
Nove dias depois de ter partido, eis que ele recebe a seguinte carta:
"CARO HENRY:
Tenho pensado muito no assunto, recapitulando tudo vezes sem conta, e parece-me agora que não há futuro para nós os dois, que é perfeitamente impossível pensarmos em ir por diante com uma tal aventura. Quando cá não estás é que vejo como fui uma louca. Enquanto te tenho ao pé, como que me deixas cega para a realidade das coisas. Fazes-me ver tudo de forma tão irreal que perco a noção das proporções, fico aturdida e confusa. Mas quando volto a ficar a sós com Jill, parece que recupero então o meu senso comum e me apercebo da grande asneira que estou a fazer e do modo injusto como te tenho tratado. Porque é tremendamente injusto para ti eu aceitar ir por diante com este romance quando, lá bem no fundo do meu coração, não consigo sentir por ti um verdadeiro amor. Bem sei que há muita gente que diz uma série de tolices e absurdos sobre o amor, mas eu não quero cair nisso. Quero, isso sim, ater-me aos factos concretos e agir com calma e sensatez. E é isso que me parece que não estou a fazer, já que não vejo por que razão irei eu casar contigo. Pois eu sei que não estou loucamente apaixonada por ti, como sempre imaginei que me iria suceder com os rapazes quando não passava ainda de uma jovem tonta, de uma rapariguinha com a cabeça cheia de fantasias. Tu és-me totalmente estranho, continuas a ser um estranho para mim e creio bem que nunca deixarás de o ser. Assim sendo, por que motivo casaria eu contigo? Quando penso na Jill, constato que ela está infinitamente mais próxima de mim. Conheço-a e tenho-lhe um grande amor, odiando-me a mim mesma como a uma besta sem coração se porventura a magoo infimamente que seja. Vivemos a nossa vida juntas e, mesmo que isso não possa durar para sempre, bem, enquanto durar sempre é uma vida, a nossa vida. E esta poderá durar enquanto ambas vivermos. Pois quem poderá saber quanto tempo iremos ainda viver? Ela é um pequenino ser, frágil e delicado, e talvez ninguém saiba bem como eu quão delicada ela é. Quanto a mim, sinto que posso muito bem cair da tripeça um dia destes. De ti é que eu sei nada, és-me totalmente desconhecido. E quando penso naquilo que tenho sido, no modo como tenho agido para contigo, então começo a recear ter alguns parafusos a menos. Custa-me pensar que uma tal senilidade mental se esteja a revelar tão precocemente, mas é isso que me parece estar a acontecer. Pois tu és-me de tal modo estranho, de tal modo diverso daquilo a que estou habituada, que não me parece que tenhamos nada em comum. E quanto a amor, a própria palavra me soa a falso, me parece absurda e impossível. Sei qual o significado do amor, até mesmo no caso da Jill, e por isso acho que no que nos diz respeito ele é uma impossibilidade absoluta. E depois mais isso de ir para o Canadá. Estou certa de que devia estar maluca de todo quando te prometi uma coisa dessas. E isso deixa-me profundamente assustada comigo mesma. Sinto que poderia muito bem vir a fazer uma loucura, a praticar qualquer acto realmente louco, de que não fosse responsável, e a ter de acabar os meus dias num manicômio. Es capaz de achar que já estou pronta para isso, tendo em conta o caminho que tenho vindo a trilhar, mas isso também não é lá muito lisonjeiro para mim. Graças a Deus que tenho aqui a Jill, pois a sua simples presença basta para me devolver o juízo. Caso contrário, não sei aquilo que faria. Poderia muito bem vir a ter um acidente com a espingarda uma noite destas. Amo a Jill e ela faz-me sentir calma e segura, restituindo-me a sanidade com as suas ternas reprimendas, com as suas amorosas zangas por eu ser tão doida e estouvada. Bom, mas aquilo que eu quero dizer é só isto: não achas melhor tentarmos esquecer tudo isto? Não posso casar contigo, pois é-me realmente impossível fazê-lo se acho isso errado. Foi tudo um grande erro, nada mais. Portei-me como uma doida varrida e tudo o que posso agora fazer é pedir-te desculpa. Por favor, peço-te que me esqueças e que não me voltes a procurar. A tua pele de raposo está quase pronta e parece-me de grande qualidade. Mandar-ta-ei pelo correio caso tenhas a amabilidade de me dizer se o teu endereço continua a ser este. Só te peço que aceites mais uma vez as minhas desculpas pela forma horrorosa e irresponsável como me comportei para contigo e que tentes esquecer o assunto.
A Jill manda-te os seus melhores cumprimentos. Os pais dela estão cá, vieram passar o Natal connosco.
Atenciosamente ELLEN MARCH."
O rapaz leu a carta no aquartelamento enquanto estava a limpar a sua mochila de apetrechos. Cerrando os dentes, ficou muito pálido por instantes, uma aura amarelada em torno dos olhos furiosos. Mas não disse palavra, deixando de ver e sentir fosse o que fosse, unicamente tomado de uma raiva surda, irracional, de uma fúria cega, quase demente. Derrotado! Derrotado mais uma vez! Frustrado! Falhado! E ele queria a mulher, ela enraizara-se-lhe na mente com a força obsessiva de um destino a cumprir, de uma sentença a executar. Possuir essa mulher era a sua perdição, o seu destino, a sua recompensa. Ela era para ele o céu e o inferno na terra, aquilo que não mais voltaria a encontrar. Cego de raiva e de fúria contida, assim passou a manhã. E se não estivesse tão ocupado a dar voltas à cabeça, magicando uma saída, planeando as mais diversas soluções, teria acabado por cometer uma loucura qualquer. Lá bem no fundo, sentia uma enorme vontade de gritar, de berrar, de ranger os dentes, de partir tudo à sua volta. Mas era demasiado inteligente para isso. Sabia que tinha de respeitar as normas sociais, que tinha de se refrear, pelo que não foi além do remoer de vinganças, do congeminar de planos, do matraquear de ideias e soluções. Assim, com os dentes cerrados e o nariz um tudo nada alçado, dando-lhe um ar extremamente curioso, qual estranha criatura demoníaca, os olhos fixos e extáticos, entregou-se aos trabalhos matinais meio ébrio de fúria e frustração mal contidas. Um só nome lhe dominava a mente: Banford. Não deu qualquer atenção ao efusivo palavreado de March, pois isso para ele não tinha importância absolutamente nenhuma. Mas, cravado na mente, havia um espinho que o torturava, dilacerante, profundo: Banford. Envenenando-lhe a mente, a alma, todo o seu ser, havia um espinho que o torturava, que o enlouquecia: Banford. E ele tinha de o arrancar. Tinha de arrancar aquele espinho da sua vida, tinha de arrancar aquele espinho que Banford encarnava, tinha de o fazer nem que morresse.
A mente obcecada por esta ideia fixa, decidiu ir pedir uma licença de vinte e quatro horas. Sabia que não tinha direito a ela, mas, possuído naquele dia de uma percepção particularmente aguda, de uma lucidez quase sobrenatural, soube de imediato onde devia dirigir-se: devia ir ter com o capitão. Mas como havia ele de descobrir o capitão? Naquele enorme aquartelamento, cheio de tendas e de barracões de madeira, não tinha a menor ideia de onde podia estar o seu capitão.
Porém, foi directo à cantina dos oficiais. E lá estava o seu capitão, de pé, a falar com três outros oficiais. Henry ficou à porta, em rígida posição de sentido.
- Posso falar com o capitão Berryman? - perguntou. Tal como ele, o capitão era natural da Cornualha.
- O que é que queres? - disse o capitão.
- Posso falar consigo, meu capitão?
- O que é que queres? - voltou a dizer o capitão, sem se mexer de onde estava, imóvel junto ao grupo dos seus camaradas.
Henry olhou o seu superior por alguns instantes sem dizer palavra.
- Não ma vai recusar, pois não, meu capitão? - perguntou então em tom de séria gravidade.
- Depende daquilo que for.
- Posso ter uma licença de vinte e quatro horas?
- Não, nem sequer tens direito a pedi-la.
- Eu sei que não, mas tenho de lha pedir.
- Pois bem, já tiveste a tua resposta.
- Por favor, não me mande embora, meu capitão.
Havia qualquer coisa de estranho naquele rapaz que ali estava à porta, tão rígido e insistente. E aquele capitão da Cornualha sentiu de imediato essa estranheza, fitando-o então com aguda curiosidade.
- Porquê, qual é a pressa? - perguntou ele, interessado.
- Estou a braços com um problema pessoal. Tenho de ir a Blewbury - respondeu o rapaz.
- Blewbury, hem? Alguma rapariga, é?
- Sim, é uma mulher, meu capitão. - E o rapaz, enquanto ali estava de pé, com cabeça ligeiramente inclinada para a frente, tornou-se - de súbito terrivelmente pálido, quase lívido, um intenso sofrimento estampado nos lábios cerrados, violáceos. Vendo isto, também o capitão se sentiu empalidecer, voltando-lhe então as costas.
- Bom, então vai lá - disse. - Mas, por amor de Deus, não te metas em barulhos nem me arranjes problemas, hem?
- Pode estar descansado, meu capitão. Muito obrigado.
Dito isto, saiu porta fora. O capitão, com um ar preocupado, tomou um gin com absinto. Henry conseguiu alugar uma bicicleta. Era meio-dia quando deixou o aquartelamento. Tinha de percorrer sessenta milhas por uma série de atalhos ensopados e lamacentos, mas, sem sequer pensar em comer, saltou para o selim e pôs-se imediatamente a caminho.
Na quinta, March dedicava-se a um trabalho que já em tempos tivera entre mãos. Um grupo de abetos escoceses erguia-se junto à extremidade do telheiro, sobre um pequeno talude por onde passava a vedação, serpenteando entre dois prados cobertos de urzes e tojo. A mais distante destas árvores estava morta. Morrera no Verão e para ali ficara com os seus ramos secos cheios de agulhas acastanhadas e murchas, erguendo-se no ar qual cadáver adiado. Não era uma árvore muito grande, além de que não havia dúvidas de que estava morta e bem morta. Assim, March decidira abatê-la, ainda que não estivessem autorizadas a cortar quaisquer árvores. Mas a verdade é que, naqueles tempos de falta de combustível, daria uma esplêndida lenha para alimentar a lareira.
Há já uma semana ou mais que ela andava a dar alguns golpes furtivos no tronco, desbastando-o de quando em vez à machadada durante uns cinco minutos, sempre junto à base e muito perto do solo, a fim de que ninguém notasse. Não tentara com a serra porque isso era um trabalho demasiado pesado para si. A árvore erguia-se agora com um profundo lanho na base do tronco, toda inclinada como que prestes a desabar, presa apenas por algum nó mais forte. Contudo, recusava-se a cair.
Estava-se em Dezembro, num fim de tarde de um dia frio e húmido. Uma névoa glacial subia dos bosques e dos vales, enquanto as trevas se adensavam por sobre os campos, prontas a tudo submergirem sob o seu manto negro. Viam-se ainda uns restos de claridade amarelada esmaecendo no horizonte, lá onde o sol começava a desaparecer por detrás dos bosques rasos perdidos na distância. March, pegando no machado, dirigiu-se para a árvore. O baque surdo dos seus golpes, ressoando, débeis, por sobre a quinta, soava de modo assaz ineficaz no ar invernio. Banford viera até cá fora vestida com o seu casaco grosso, mas, dado não trazer chapéu na cabeça, os seus cabelos, curtos e ralos, esvoaçavam sob o vento desagradável que se fazia sentir, zunindo por sobre o bosque, silvando por entre os pinheiros.
- Aquilo de que tenho medo - dizia Banford - é que venha a cair sobre o barracão e que lá tenhamos nós de ter mais um trabalhão a repará-lo.
- Oh, não me parece - respondeu March, endireitando-se e passando o braço pela testa alagada em suor. Estava terrivelmente afogueada, o rosto todo vermelho, com uma expressão bizarra nos olhos muito abertos, o lábio superior levantado, deixando à mostra os seus dois incisivos, muito brancos e brilhantes, que lhe davam um curioso ar de coelho.
Um homem baixo e corpulento, com um sobretudo preto e um chapéu de coco, chegou saltitando através do pátio. Tinha um rosto rosado e uma barba branca, com uns olhos pequeninos, de um azul pálido. Ainda não era muito velho, mas tinha ar de ser nervoso, no seu andar curto e miúdo.
- O que acha, pai? - perguntou Banford. - Não acha que pode atingir o barracão quando cair?
- O barracão? Não! Que ideia! - replicou o velhote. - E impossível atingir o barracão. A vedação já não digo, mas o barracão...
- A vedação não tem importância - disse March na sua voz forte.
- Como sempre, só digo asneiras - volveu Banford, afastando dos olhos o cabelo em desalinho.
A árvore mantinha-se de pé como presa de um só músculo, inclinada e plangente sob aquele vento forte. Crescera num talude entre dois prados, por sobre uma pequena vala agora seca. No topo do talude, erguia-se uma vedação solitária, algo desgarrada, subindo em direcção aos arbustos do cimo do monte. Erguiam-se ali diversas árvores, agrupadas naquele canto do campo, perto do barracão e do portão que dava para o pátio. Na direcção deste portão, estendendo-se horizontalmente ao longo dos prados monótonos e iguais, ficava a vereda, irregular e ervosa, que levava à estrada lá ao fundo. Aí havia uma outra vedação, já meio arruinada e periclitante arrastando-se campo fora com as suas compridas traves apodrecidas apoiadas em estacas curtas e grossas, bastante afastadas umas das outras. Os três estavam de pé, atrás da árvore, no canto do prado junto ao barracão, logo acima do portão do pátio. A casa, com as suas duas empenas e um alpendre, erguia-se, aprumada, no meio de um pequeno quintal relvado existente no pátio. Uma mulher atarracada e gorducha, de rosto corado, com um xaile de lã vermelha pelos ombros, surgiu então à porta, detendo-se depois sob o alpendre.
- Então, ainda não a deitaram abaixo? - exclamou, numa voz fraca e esganiçada.
- Está-se a pensar nisso - respondeu o marido. O tom com que falava com as duas raparigas era sempre algo trocista e mordaz. March não queria continuar a tentar derrubar a árvore enquanto ele ali estivesse. Pois, quanto a ele, nem um palito se incomodaria a levantar do chão se o pudesse evitar, queixando-se, à semelhança da filha, de ter um ombro apanhado de reumatismo. Assim, deixaram-se estar ali os três parados, momentaneamente imóveis e silenciosos na tarde fria, de pé junto ao pátio no canto mais afastado do campo.
Ouviram então o bater longínquo de um portão, pelo que viraram a cabeça para ver quem seria. Perdido na distância, vindo pela vereda verdejante, horizontal e plana, viram um vulto que nesse instante voltava a saltar para uma bicicleta, avançando aos solavancos por entre as ervas que atulhavam o caminho, em direcção ao portão da quinta.
- Mas é um dos nossos rapazes! Jack, creio - disse o velhote.
- Não, não pode ser - disse Banford por seu turno.
March virou também a cabeça, esticando o pescoço para ver melhor. E só ela reconheceu aquele vulto de caqui, corando sem dizer palavra.
- Não, não me parece que seja Jack - disse o velhote, fitando a distância com os seus olhinhos azuis, muito redondos sob as pestanas brancas.
Decorridos alguns instantes, a bicicleta surgiu à vista, sempre ziguezagueante, posto o que o ciclista se apeou junto ao portão. Era Henry, o rosto encharcado e vermelho, todo sujo de lama. Aliás, da cabeça aos pés, todo ele era lama.
- Oh! - exclamou Banford, como que subitamente receosa. - Mas é o Henry!
- O quê! - exclamou o velhote em voz surda. Tinha uma forma de falar muito curiosa, algo pastosa e rápida, como se andasse sempre a resmungar entredentes, além de também ser um pouco surdo. - O quê? O quê? Quem é? Quem é que disseste que era? O tal rapaz? O tal rapaz da Nellie? Oh! Oh! - E um sorriso irónico espelhou-se-lhe no rosto rosado, as pestanas brancas moven-do-se rápidas e trocistas.
Henry, afastando o cabelo molhado da fronte húmida e quente, já os tinha visto. E, ao ouvir o que o velhote dissera, o seu rosto jovem, afogueado e vermelho, pareceu incendiar-se num súbito fulgor faiscante, brilhando, luminoso, à luz crua daquela dia frio.
- Oh, estão todos aqui! - disse então ele, soltando aquele seu riso de cachorrinho, rápido e breve. Sentia-se tão afogueado e tonto de tanto pedalar que mal sabia onde estava. Encostando a bicicleta à vedação, saltou então por ela. Depois, sem entrar no pátio, trepou até ao canto onde ficava o talude.
- Bem, devo dizer que não estávamos à sua espera - disse Banford, lacónica.
- Sim, parece-me bem que não - respondeu ele, olhando para March.
Esta estava um pouco afastada, mantendo--se de pé com um joelho dobrado, um ar ausente no rosto inexpressivo, o machado pendendo-lhe da mão num gesto de abandono, com a ponta apoiada no chão. Tinha os olhos muito abertos, vazios e abstractos, com o lábio superior levantado e os dentes à mostra, dando-lhe aquele estranho ar de coelho, misto de fascínio e desalento. No exacto momento em que vira aquele rosto rubro e coruscante, tudo acabara para ela. Sentia-se tão indefesa como se estivesse amarrada de pés e mãos. Sim, no exacto momento em que vira a forma como aquela cabeça parecia adiantar-se, atirada para a frente, tudo acabara para ela.
- Bom, mas afinal quem é? Então, não me dizem quem é? - perguntou o velhote, sorridente e trocista, naquele seu tom resmungado.
- Ora essa, pai, bem sabe quem é. E o senhor Grenfel, de quem já nos ouviu falar - respondeu friamente Banford.
- Sim, acho que sim, já te ouvi falar dele. Mas, à parte isso, não sei praticamente nada a seu respeito - resmungou o ancião, com aquele seu curioso risinho sarcástico espelhado no rosto. - Como está? - acrescentou depois, estendendo subitamente a mão a Henry.
O rapaz apertou-lhe a mão como que surpreendido. Depois, voltaram a afastar-se.
- Então veio a pedalar todo o caminho desde a planície de Salisbury, não é assim? - perguntou o velhote.
- Sim, é verdade.
- Ah! Grande esticão!... E quanto tempo levou, hem? Muito tempo, não? Presumo que várias horas.
- A roda de quatro, sim.
- Quatro, hem? Sim, logo pensei que devia andar por aí. E então quando é que tem que voltar?
- Tenho licença até amanhã à tarde.
- Até amanhã à tarde, disse? Sim, senhor, muito bem. Ah! As raparigas não estavam à sua espera, pois não?
E o velhote, virando-se para as raparigas, olhou-as com os seus olhinhos trocistas, uns olhos redondos e azuis, de um azul pálido muito brilhante sob as pestanas brancas. Henry olhou também à sua volta. Começava a sentir-se um pouco embaraçado. Olhou então para March, que continuava imóvel, olhos fixos na distância como que a ver por onde andava o gado. Tinha a mão assente no cabo do machado, a lâmina negligentemente pousada no chão.
- Que estavam aqui a fazer? - perguntou ele, na sua voz suave e cortês. - A deitar abaixo uma árvore?
March parecia não o ouvir, extática como se estivesse em transe.
- É verdade - respondeu Banford. - Há já uma semana que andamos a tentar derrubá-la.
- Oh! Então têm feito todo o trabalho sozinhas, não?
- A Nellie é que tem, eu cá por mim não fiz nada - retorquiu Banford.
- Palavra? Nesse caso, deves ter tido muito trabalho - disse então ele, dirigindo-se directamente a March num tom de voz algo estranho, apesar de gentil e cortês. Mas ela não respondeu, mantendo-se um pouco de lado, os olhos obsessivamente fixos na distância, olhando os bosques lá ao fundo como que hipnotizada.
- Nellie! - gritou Banford em voz aguda. - Não sabes responder?
- Quem, eu? - exclamou March, só então se virando para os olhar. - Alguém falou comigo?
- Está na lua, é o que é! - resmoneou o velhote, virando o rosto num sorriso. - Deve estar apaixonada, hem, assim a sonhar acordada!...
- Falaste comigo, foi? - disse March, olhando então para o rapaz de uma forma estranha, como se acabasse de voltar de muito longe, um ar de dúvida nos olhos abertos, interrogativos, o rosto levemente ruborizado.
- Disse que deves ter tido muito trabalho com a árvore, que deves andar muito cansada - respondeu ele cortesmente.
- Oh, isso! Dei-lhe umas machadadas de quando em vez, pensando que acabaria por cair.
- Graças aos céus que não caiu durante a noite, caso contrário teríamos morrido de susto - disse Banford.
- Deixa-me acabar isto por ti, está bem? - pediu o rapaz.
March estendeu então o machado na sua direcção, o cabo virado para ele.
- Não te importas? - perguntou.
- Claro que não, se me deres licença - respondeu ele.
- Oh, cá por mim fico satisfeita quando a vir por terra! Só isso interessa, nada mais - volveu ela em tom negligente.
- Para que lado irá cair? - disse Banford. - Será que pode cair sobre o barracão?
- Não, não deve atingir o barracão - respondeu ele. - Acho que irá cair além, em terreno aberto. Quanto muito, poderá dar uma volta e cair sobre a vedação.
- Cair sobre a vedação! - exclamou o velhote. - Ora essa, cair sobre a vedação! Inclinada como está, com um ângulo destes?
Além de que ainda é mais longe do que o barracão! Não, sobre a vedação é que não vai cair.
- Realmente - atalhou Henry -, isso é muito improvável. Acho que tem razão, tem muito espaço livre para cair. E, deve cair em terreno aberto.
- Espero que não vá cair para trás, abatendo-se sobre as nossas cabeças! - disse o velhote, sarcástico.
- Não, isso não vai acontecer - respondeu Henry, tirando a samarra e o casaco. - Toca a andar, patos, fora daqui!
Vindos do prado acima, uma fila de quatro patos brancos com pintas acastanhadas, conduzidos por um macho castanho e verde, vinham disparados colina abaixo, vogando como barcos em mar encapelado, os bicos abertos, furiosos, enquanto desciam em grande velocidade por ali abaixo em direcção à vedação e ao pequeno grupo ali reunido, grasnando numa tal excitação que dir-se-ia trazerem novas da Armada Espanhola.
- Oh, grandes tontinhos, grandes tontinhos! - gritou Banford, indo até junto deles para os afugentar dali. Mas eles dirigiram-se impetuosamente ao seu encontro, abrindo os bicos amarelo esverdeados e grasnando como se estivessem excitadíssimos para lhe comunicar uma qualquer novidade.
- Aqui não há comida, não há nada para vocês. Esperem um bocado que já comem - dizia-lhes Banford. - Vá, vão-se embora, vão--se embora! Dêem a volta, vão para o pátio!
Mas, como eles não lhe obedeciam, ela decidiu-se a trepar a vedação a fim de ver se os desviava dali, de modo a que dessem a volta por debaixo do portão e entrassem no pátio. E lá foram eles atrás, a abanarem-se novamente todos excitados, sacudindo o rabo como popas de pequeninas gôndolas ao mergulharem por debaixo da grade do portão. Banford parou então no alto do talude, imediatamente acima da vedação, ficando ali de pé a olhar para os outros três lá em baixo.
Erguendo os olhos, Henry fitou-a, indo ao encontro daqueles olhos mirrados e fracos, daquelas pupilas arredondadas e estranhas que o miravam por detrás dos óculos. Perfeitamente imóvel, olhou então para cima, para a árvore inclinada e instável. E, enquanto olhava para o céu, como um caçador observando o voo da ave que se propõe abater, pensou para consigo: "Se a árvore cair da forma que parece indicar, dando uma volta no ar antes da queda, então aquele ramo além vai abater-se sobre ela, no ponto exacto em que ela está, de pé no cimo daquele talude."
Voltou então a olhá-la. Lá estava ela, a afastar os cabelos da testa, naquele seu gesto tão habitual e constante. No fundo do seu coração, ele já decidira que ela tinha de morrer. Uma força terrível, paralisante, pareceu nascer dentro de si à semelhança de um poder de que fosse ele o único detentor. Se se voltasse, se fizesse qualquer movimento, mesmo que ínfimo como um cabelo, na direcção errada, então aquele poder fugir-lhe-ia, esfumar-se-ia instantaneamente.
- Tenha cuidado, Miss Banford - disse então ele. E o seu coração como que se imobilizou, inteiramente possuído daquela vontade pura, daquele desejo indómito de que ela não se movesse.
- Quem, eu? Quer que eu tenha cuidado, é? - gritou-lhe Banford, numa voz possuída do mesmo tom sarcástico do pai. - Porquê, pensa que me pode atingir com o machado, é isso?
- Não, mas no entretanto pode dar-se o caso de ser a árvore a atingi-la - respondeu ele numa voz neutra. Contudo, o tom em que falou fê-la deduzir que ele estava tão-só a ser falsamente solícito no intuito de a levar a mover-se, no prazer de a ver vergar, obediente, sob a sua vontade.
- Isso é absolutamente impossível - disse ela então.
Ele ouviu-a. Contudo, manteve a sua imobilidade de estátua, quedando-se hirto e parado como um bloco de gelo, não fosse o seu poder esvair-se.
- Não, olhe que é sempre uma hipótese. Acho melhor descer por aquele lado.
- Oh, está bem, deixe-se disso! Vamos mas é a ver essa famosa arte dos Canadianos a abater árvores - replicou ela.
- Então, atenção! - disse ele, pegando no machado e olhando à sua volta para ver se tinha espaço livre.
Houve um momento de pausa, de pura imobilidade, em que o mundo pareceu deter--se, suspenso daquele instante. Então, a sua silhueta pareceu de súbito irromper do nada, avolumando-se gigantesca e terrível, para logo desfechar dois golpes rápidos, fulgurantes, um após outro em sucessão imediata, fazendo com que a árvore finalmente abatida, girasse lentamente, num estranho rodopiar de parafuso, fendendo o ar até descer sobre a terra como um súbito manto de trevas. E só ele viu aquilo que então aconteceu. Só ele ouviu o estranho grito que Banford soltou, um grito débil e abafado, quando viu os ramos superiores a abaterem-se, aquela sombra negra descendo, célere, sobre a terra, desabando, terrível, sobre si. Só ele viu como ela se encolheu, num gesto tímido e instintivo, recebendo na nuca toda a força da pancada. Só ele viu como ela foi atirada longe, como acabou por se estatelar, feita uma massa informe e retorcida, aos pés da vedação. Só ele, mais ninguém. E o rapaz viu tudo isto com uns olhos muito abertos e brilhantes, tão fixos e intensos como se observasse a queda de um pato-bravo que acabasse de abater. Estaria ferida, estaria morta? Não, estava morta. Morta!
De imediato, deu um grande grito. Simultaneamente, March soltou um grito agudo, selvagem, quase que um guincho, que ecoou longe na distância, repercutindo-se, sonoro, na tarde fria e parada. Quanto ao pai de Banford, emitiu um estranho urro, longo e abafado.
O rapaz saltou a vedação e correu para a figura ali caída. A nuca e a cabeça não passavam de uma massa informe, sangue e horror em partes iguais. Virou-a então de costas. O corpo fremia ainda em rápidas convulsões, secas e breves. Mas já estava morta, já estava de facto morta. Ele sabia que assim era, sentia-o na alma e no sangue. Cumpria-se assim aquela sua necessidade interior, aquela exigência vital, imperiosa, sendo ele o sobrevivente. Sim, fora ele quem sobrevivera, arrancado que fora o espinho que até então lhe revolvera as entranhas. Assim, pousou-a gentilmente no chão. Estava morta, disso não havia dúvidas.
Erguendo-se, viu March que se quedara hirta como que petrificada, ali parada absolutamente imóvel, dir-se-ia que presa ao chão por uma força invisível. Tinha o rosto mortalmente pálido, os olhos negros transformados em dois grandes abismos aquosos, trevas e dor bailando-lhe nas pupilas. O velhote tentava escalar a vedação, horrível de ver na incoerência e no esforço.
- Receio bem que tenha morrido - disse então o rapaz.
O velhote chorava de uma forma estranha, soluçada, emitindo curiosos ruídos enquanto se apressava por sobre a vedação.
- O quê! - gritou March, como que electrizada.
- Sim, receio bem que sim - repetiu o rapaz.
March vinha agora a caminho. Adiantando-se-lhe, o rapaz atingiu a vedação antes de ela lá conseguir chegar.
- Que estás a dizer, morta, como? - perguntou em voz aguda.
- Assim mesmo, morta. Receio bem que esteja morta - respondeu ele com enorme suavidade.
Ela tornou-se então ainda mais pálida, terrivelmente pálida e branca. E ficaram ali os dois a olhar um para o outro. Os seus olhos negros muito abertos fitavam-no num último lampejo de resistência. Depois, finalmente quebrada na agonia da dor, começou a choramingar, a chorar de uma forma contida, o corpo sacudido por estremeções, à semelhança de uma criança que não quer chorar mas que, destruída por dentro, solta aqueles primeiros soluços, sacudidos e fracos, que antecedem a irrupção do choro, do brotar das lágrimas, aqueles primeiros soluços secos, devastadores, terríveis.
Ele ganhara. Ela quedava-se ali de pé, abandonada e só, no mais total desamparo, o corpo sacudido por aqueles soluços secos, os lábios percorridos por um tremor rápido, espasmódico. E então, precedidas de uma pequena convulsão como acontece com as crianças, vieram as lágrimas, a agonia cega dos olhos turvos, rasos de água, do choro desgastante e infindo, dos olhos gastos até à última gota. Caiu depois por terra, ficando sentada na relva com as mãos sobre o peito e o rosto erguido, os olhos toldados por aquele choro convulsivo. Ele ficou de pé, olhando-a de cima, qual estátua pálida e muda, como que subitamente imobilizado para toda a eternidade. Sem se mover, quedou-se assim imóvel a olhar para ela. E, apesar da tortura que tal cena lhe causava, apesar da tortura do seu próprio coração, da tortura que lhe enovelava as entranhas, ele rejubilava. Ganhara, finalmente.
Longo tempo volvido, debruçou-se enfim sobre ela, pegando-lhe na mão.
- Não chores - disse-lhe então com doçura. - Não chores.
Ela olhou para ele por entre as lágrimas que lhe escorriam olhos abaixo, um ar abstracto no rosto desamparado e submisso. Assim, deixou-se estar de olhos pregados nos dele como se não o visse, como se subitamente cega, sem vista, apesar de continuar a olhá-lo de rosto erguido. Sim, não mais voltaria a deixá-lo. Ele tinha-a conquistado. E ele sabia disso, por isso rejubilava. Pois queria-a para sua mulher, a sua vida necessitava dela. E agora conquistara-a. Conquistara-a, conquistara finalmente aquilo de que a sua vida tanto necessitava.
Mas, se bem que a tivesse conquistado, ela ainda lhe não pertencia. Casaram, pois, pelo Natal conforme planeado, pelo que ele voltou a obter uma licença de dez dias. Foram então para a Cornualha, para a aldeia donde ele era natural, mesmo junto ao mar. Pois ele apercebera-se de que seria terrível para ela continuar na quinta por muito mais tempo.
Mas, ainda que ela agora lhe pertencesse, ainda que vivesse na sua sombra, como se não pudesse estar longe dele, a verdade é que ela não era feliz. Não que quisesse abandoná-lo, isso nunca, mas também não se sentia livre ao pé dele. Tudo à sua volta parecia espiá-la, pressioná-la. Ele tinha-a conquistado, tinha-a ao seu lado, fizera dela sua mulher. Quanto a ela, ela pertencia-lhe e sabia-o. Contudo, não era feliz. E também ele continuava a sentir-se frustrado. Apercebera-se de que, apesar de ter casado com ela e de, aparentemente, a ter possuído de todas as formas possíveis, apesar, inclusive, de ela querer que ele a possuísse, de ela o querer com todas as forças do seu ser, nada mais desejando para lá disso, a verdade é que não se sentia plenamente realizado, como se houvesse algures uma falha indetectada.
Sim, faltava, de facto, qualquer coisa. Pois ela, em vez da sua alma rejubilar com a nova vida que agora tinha, parecia antes definhar, exaurir-se, sangrar como se estivesse ferida. Assim, ficava longo tempo com a sua mão na dele, olhando o mar. Mas nos seus olhos negros e vadios havia como que uma espécie de ferida, o rosto ligeiramente mais magro, mais mirrado. E caso ele lhe falasse, ela virar--se-ia para ele com um sorriso diferente, débil e baço, o sorriso trémulo e ausente de uma mulher que, morta a sua antiga forma de amar, ainda não conseguira despertar para a nova forma de amor que agora lhe era dado experimentar. Pois ela continuava a sentir a necessidade de fazer qualquer coisa, de se esforçar em qualquer direcção. E ali não havia nada para fazer, não havia direcção em que pudesse esforçar-se. Além disso, não conseguia aceitar totalmente aquela espécie de apagamento, de submersão, que a nova forma de amar parecia exigir-lhe. Pois, estando apaixonada, sentia-se na necessidade de, de uma forma ou de outra, dar prova desse mesmo amor exteriorizando-o. Sentia-se dominada pela enervante necessidade, tão comum nos nossos dias, de dar prova do amor que se tem por alguém. Mas sabia que, na verdade, devia deixar de continuar a querer dar prova do seu amor. Pois ele não aceitaria esse amor, um amor que tinha de dar prova de si mesmo, o amor de que ela queria dar prova perante ele. Sempre que tal sucedia, ele ficava sombrio, um ar de desagrado no rosto carregado. Não, ele não a deixaria dar prova do seu amor para com ele. Não, ela tinha de ser passiva, aquiescente, de se deixar apagar, de se deixar submergir sob as águas calmas do amor. Ela tinha de ser como as algas que costumava ver ao passear de barco, balouçando suave e delicadamente, para sempre submersas sob as águas, com todas as suas delicadas fibrilas para fora, estendidas num doce ondular, vergadas e passivas sob a força da corrente, delicadas, sensíveis, numa entrega total, absoluta, abandonando-se, em toda a sua sensibilidade, em toda a sua receptividade, sob as águas escuras do mar envolvente, sem nunca, mas nunca, tentarem subir, emergir de sob as águas enquanto vivas. Não, nunca. Nunca emergem de sob as águas enquanto vivas, só depois de mortas, quando, já cadáveres, sobem então à tona, levadas pela maré. Mas, enquanto vivas, mantêm-se sempre submersas, sempre sob as ondas. E, contudo, apesar de jazerem sob as ondas, podem criar poderosas raízes, raízes mais fortes que o próprio ferro, raízes que podem ser tenazes e perigosas no seu suave ondular, batidas pelas correntes.
Jazendo sob as ondas, podem, inclusive, ser mais fortes e indestrutíveis do que os orgulhosos carvalhos que se erguem sobre a terra. Mas sempre, sempre submersas, sempre sob as águas. E ela, sendo mulher, teria de ser assim, teria de aprender a ser como essas algas.
Mas ela estava de tal modo acostumada a ser precisamente o oposto! Sempre tivera de chamar a si todas as responsabilidades, todas as preocupações, sempre tivera de ser ela a ocupar-se do amor e da vida. Dia após dia, tornara-se responsável pelo novo dia, pelo novo ano, pela saúde da sua querida Jill, pela sua felicidade, pelo seu bem-estar. Na verdade, e na medida da sua própria pequenez, acabara por se sentir responsável pelo bem--estar de todo o mundo. E o seu grande estimulante fora precisamente esse maravilhoso sentimento, esse sentimento de que, à escala da sua reduzida dimensão, ela era responsável pelo bem-estar do mundo inteiro.
E falhara. Falhara e sabia-o, sabia que, mesmo à sua pequena escala, acabara por falhar. Falhara em não conseguir satisfazer o seu próprio sentido das responsabilidades. Pois tudo lhe fora tão difícil! De início, tudo lhe parecera fácil, tudo lhe parecera belo. Mas, quanto mais se esforçava, mais difíceis as coisas se tornavam. Parecera-lhe tão fácil tornar feliz um ente querido! Mas não, fora terrível.
Toda a sua vida se esforçara, toda a sua vida tentara alcançar algo que parecia estar tão próximo, quase ao alcance da mão, gastando--se e consumindo-se até ao extremo limite das suas forças, para só então se dar conta de que isso estava sempre para além de si.
Sempre inatingível, sempre para além de si, irrealizável e vago, até que, por fim, acabara por se ver sem nada, totalmente despojada e vazia. A vida por que lutara, a felicidade que sempre almejara, o bem-estar por que tanto se esforçara, tudo resvalou no abismo, tornando--se vago e irreal, por mais longe que ela tentasse ir, as mãos estendidas, anelantes e vazias. Quisera ter um objectivo, uma finalidade por que lutar, mas não, não havia nada, só o vazio. E sempre aquela horrível busca, aquele constante esforço, aquele empenhamento em alcançar algo que talvez estivesse logo ali, logo ali ao virar da esquina. Até mesmo na sua tentativa de tornar Jill feliz, até mesmo aí falhara. Agora quase que se sentia aliviada por Jill ter morrido. Pois apercebera-se de que nunca a conseguiria fazer feliz. Jill nunca deixaria de se preocupar, sempre atormentada e aflita, cada vez mais mirrada, cada vez mais fraca. Em vez de diminuírem, as suas preocupações e dores nunca deixariam de aumentar. Sim, havia de ser sempre assim, havia de ser sempre assim até ao findar dos tempos. E, na verdade sentia--se aliviada, quase feliz por ela ter morrido.
Mas se, em vez disso, se tivesse casado com um homem, tudo teria sido igual. Sempre com a mulher a esforçar-se, a esforçar-se por tornar o homem feliz, a empenhar-se dentro dos seus limitados recursos pelo bem-estar do seu pequeno mundo. E nada obtendo senão o fracasso, um constante e enorme fracasso. Quanto muito, só pequenos e ilusórios sucessos, frivolidades tão aburdas como o dinheiro ou a ambição. Mas no aspecto em que verdadeiramente mais desejaria triunfar, no angustiado esforço de tentar tornar feliz e perfeito um qualquer ente amado, então aí o fracasso revelava-se total, quase catastrófico. Deseja-se sempre tornar feliz o ser amado, parecendo--nos que a sua felicidade está perfeitamente ao nosso alcance. Basta que façamos isto, aquilo e aqueloutro. E empenhamo-nos com toda a boa-fé, fazemos tudo e mais alguma coisa, mas, de cada vez, o falhanço parece crescer mais e mais, agigantar-se, medonho e terrível. Podemos, inclusive, lançar por terra o nosso amor-próprio, esforçarmo-nos e lutarmos até aos ossos sem que as coisas melhorem, antes pelo contrário, com tudo a piorar de dia para dia, indo de mal a pior, e bem assim a almejada felicidade. Oh, a felicidade! Que medonho engano, não é!
Pobre March! Com toda a sua boa vontade e sentido das responsabilidades, ela esforçara-se até mais não, esforçara-se e lutara até começar a ter a sensação de que tudo, de que toda a vida não passava de um horrível abismo de poeira e vazio. Quanto mais nos esforçamos por alcançar a flor fatal da felicidade, tremulando, tão amorosa e azul, na beira de um barranco quase ao alcance da mão, tanto mais assustados ficamos ao apercebermo-nos do horrível e pavoroso abismo do precipício que se abre aos nossos pés, no qual acabaremos inevitavelmente por cair, como num poço sem fundo, se tentarmos ir mais longe. E então colhe-se flor após flor, mas nunca a flor, nunca aquela por que tanto ansiamos. Pois essa flor oculta no seu cálice, qual poço sem fundo, um pavoroso abismo, um abismo de trevas e voragem, insondável, tenebroso.
Eis toda a história da busca da felicidade, quer seja a nossa ou a de outrem que se pretenda atingir. Tal busca acaba sempre, mas sempre, na horrível sensação de haver um poço sem fundo, um abismo de pó e nada no qual acabaremos inevitavelmente por cair se se tentar ir mais longe.
E as mulheres? Que outro objectivo pode uma mulher conceber senão a felicidade? Só a felicidade e nada mais que a felicidade, a felicidade para si própria e para todos aqueles que a rodeiam, a felicidade para o mundo inteiro, em suma. Só isso, nada mais. E assim, assume todas as responsabilidades inerentes e parte em busca do almejado objectivo. Quase que o pode ver ali, logo ali no fim do arco-íris. Ou então um pouquinho mais além, no azul da distância. De qualquer das formas, não muito longe, nunca muito longe.
Mas o fim do arco-íris é um abismo sem fundo, perdendo-se terra adentro, no qual se pode mergulhar sem nunca se chegar a lado algum, e o azul da distância é um poço de vazio que nos pode engolir, a nós e a todos os nossos esforços, no vácuo da sua voracidade sem por isso deixar de ser um abismo sem fim, um abismo de trevas e de nada. Sim, a nós e a todos os nossos esforços. Assim é a incessante perseguição da felicidade, sempre tão ilusoriamente ao nosso alcance!
Pobre March! Ela que partira com tão admirável determinação em busca da meta entrevista no azul da distância. E quanto mais longe ia, tanto mais terrível se tornava a noção da vacuidade envolvente. Por último, tal percepção tornara-se para si numa fonte de dolorosa agonia, numa sensação de insanidade, de loucura.
Estava feliz por tudo ter acabado. Estava feliz por se poder sentar na praia a olhar o poente por sobre o mar, sabendo que tudo acabara, que todo aquele formidável esforço chegara ao fim. Nunca mais voltaria a lutar pelo amor e pela felicidade. Não, nunca mais. Pois Jill estava agora segura, salva pela morte. Pobre Jill, pobre Jill! Como devia ser doce estar morta!
Mas, quanto a si, o seu destino não se cumpria na morte. Tinha de deixar o seu destino nas mãos daquele rapaz. Só que o rapaz pretendia muito mais do que isso, muito mais. Ele pretendia que ela se lhe entregasse sem reservas, que se deixasse afundar, submergir por ele. E ela, ela só desejava poder quedar-se imóvel, ficar ali sentada a olhar a distância como uma mulher que chegou ao fim do caminho, como uma mulher que, atingida a última etapa, pára por fim para descansar. Ela queria ver, saber, compreender. Ela queria estar sozinha, ficar só, com ele a seu lado, sim, mas só.
Oh, mas ele!... Ele não queria que ela observasse mais nada, que continuasse a ver ou a compreender fosse o que fosse. Ele queria velar-lhe o seu espírito de mulher como os Orientais usam velar o rosto das suas esposas. Ele queria que ela se lhe entregasse de corpo e alma, que adormecesse o seu espírito de independência. E queria libertá-la de todo o esforço de realização, de tudo aquilo que parecia ser a sua verdadeira raison d'etre. Ele queria torná-la submissa, rendida, queria que ela deixasse cegamente para trás toda a sua vívida consciência, abandonando-a de vez e para sempre. Queria extirpar-lhe essa consciência, queria que ela se tornasse tão-só sua mulher, sua mulher e nada mais. Nada mais.
Ela sentia-se tão cansada, tão cansada, quase como uma criança que se sente cheia de sono mas que luta contra isso como se dormir fosse sinónimo de morrer. Assim, os seus olhos pareciam dilatar-se mais e mais, tensos e rasgados, no esforço obstinado de se manter acordada. Ela tinha de se manter acordada. Tinha de saber. Tinha de ponderar, ajuizar e decidir. Tinha de manter bem firmes nas mãos as rédeas da sua própria vida. Tinha de ser uma mulher independente até ao fim. Mas estava tão cansada, tão cansada de tudo e de todos... E tinha tanto sono, tanto sono... Sentia-se tão quebrada ali ao pé do rapaz, ele transmitia-lhe uma tal calma, uma tal tranquilidade...
Contudo, os olhos dilatavam-se-lhe mais e mais, ali sentada num recanto daqueles altos penhascos bravios da Cornualha Ocidental, olhando o poente por sobre as águas do mar, olhando para oeste, lá onde ficavam o Canadá e a América. Ela tinha de saber, tinha de conseguir ver aquilo que estava para vir, aquilo que a esperava para lá do horizonte. Sentado a seu lado, o rapaz olhava as gaivotas que voavam mais abaixo, um ar sombrio no rosto carregado, os olhos tensos, descontentes. Ele queria vê-la adormecida e em paz a seu lado. Queria que ela se lhe abandonasse, queria ser o seu sono e a sua paz. E ali estava ela, quase morta pelo esforço insano da sua própria vigília. Contudo, ela nunca adormeceria. Não, nunca. Às vezes, ele pensava amargamente que teria sido melhor abandoná-la, que nunca devia ter matado Banford, que devia ter deixado que Banford e March se matassem uma à outra.
Mas isso era mera impaciência e ele sabia-o. Estava à espera, à espera de poder partir para oeste. E desejava ansiosamente partir, era quase um suplício ter de continuar à espera de poder deixar a Inglaterra, de poder ir para oeste, de poder levar March consigo. Oh, que ânsias de deixar aquela costa! Pois tinha esperança de que, quando fossem já por sobre as ondas, cruzando os mares com a Inglaterra finalmente para trás, aquela Inglaterra que ele tanto odiava, talvez porque, de certa forma, esta parecia tê-lo envenenado, ter-lhe espetado o seu ferrão, ela acabaria finalmente por adormecer, fechara finalmente os olhos, dando-se-lhe sem reservas.
E então ela seria finalmente sua e ele poderia, por fim, viver a sua própria vida, a vida por que tanto ansiava. Agora sentia-se irritado e aborrecido, sabendo que ainda não alcançara essa vida que desejava viver. E nunca a alcançaria enquanto ela não se rendesse, enquanto ela não adormecesse de vez, entregando-se-lhe, dissolvendo-se nele. Então sim, então ele já poderia viver a sua própria vida enquanto homem e enquanto macho, tal como ela já poderia viver a dela enquanto mulher e enquanto fêmea. E deixaria para sempre de haver esta medonha tensão, este esforço tenaz, obstinado, insano. Ela nunca mais voltaria a parecer um homem, a querer ser uma mulher independente com responsabilidades de homem. Não, nunca mais, pois até mesmo a responsabilidade pela sua própria alma ela teria de lhe confiar, de entregar nas suas mãos. Ele sabia que tinha de ser assim, por isso lhe fazia obstinadamente frente, esperando a sua rendição.
- Sentir-te-ás melhor uma vez que tenhamos partido, cruzando os mares em direcção ao Canadá, lá diante - disse-lhe ele quando se sentaram nas rochas por sobre o penhasco.
Ela olhou então para o horizonte, lá onde o céu e o mar se confundiam, como se este não fosse real. Depois, voltando-se para ele, olhou-o com aquela estranha expressão de esforço de uma criança em luta contra o sono.
- Achas que sim? - perguntou.
- Sim, acho que sim - respondeu ele calmamente.
As pálpebras descaíram-lhe então ligeiramente, num movimento lento, suave, quase imperceptível, sob o peso involuntário do sono. Mas, voltando a erguê-las, abriu os olhos e disse:
- Sim, talvez. Não sei dizer. Não faço ideia de como as coisas se irão passar depois de lá chegarmos.
- Ah, se ao menos pudéssemos partir depressa! - exclamou ele, numa voz dolorida.
D.H. Lawrence
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















