O SACRIFICIO DA INOCENCIA / Taylor Caldwell
O SACRIFICIO DA INOCENCIA / Taylor Caldwell
.
.
.
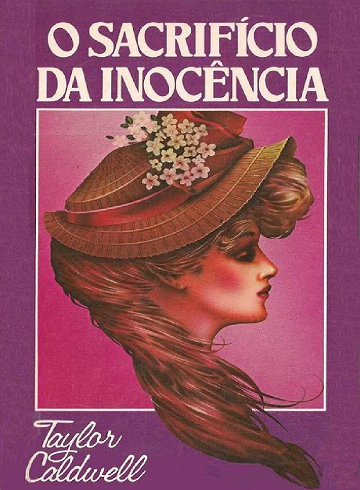
.
.
Conhecia todos bem e intimamente. Casara muitos deles, batizara um número maior ainda e enterrara seus mortos. Conhecia-lhes as culpas e não tinha compaixão de suas fraquezas, de seus sofrimentos espirituais e físicos. Tudo era pecado, tudo era maldade. As crianças recendiam a isso, até mesmo as que estavam no colo das mães. Todas as mulheres eram intrinsecamente dissolutas, todos os homens eram fornicadores, adúlteros, infiéis e mentirosos. Confiança! Amor! Que sabiam eles dessas coisas? O pastor soluçou em seco e deixou que seus olhos pálidos e semicerrados perpassassem em cada um dos rostos submissos, cada um dos rostos cansados, cada um dos rostos tristes, cada um dos rostos jovens. Pecadores, todos eles, prontos para serem ceifados e queimados.
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Segunda parte
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Terceira parte
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45




Biblio VT




O pastor estendeu ao máximo os dedos dos pés, abriu os braços como asas e ergueu a cabeça numa atitude de arrebata-mento, com expressão exaltada no rosto, os olhos como que fitando, enlevados, o teto da igreja, de um branco seroso. Era como se estivesse abraçando uma visão de anjos iluminados pelo alvorecer; a congregação fitou-o, fascinada. O rosto emaciado do pastor parecia banhado por uma outra luz e seu sorriso era de puro êxtase.
Ele falou maciamente e com tremolos: “Amar ou perecer, amar ou perecer. É esta a Lei e nada mais existe. Se, depois de Deus, não amarmos o próximo de todo o coração, é que somos mais pobres do que o pó e mais baixos do que os animais. Que adianta possuirmos as riquezas de Midas, se não amamos? Nada somos. Confiança, confiança. Aquele que não confia em seu próximo é maligno. É mau. Há um pecado negro em seu coração. Amor! Confiança!”
O órgão gemeu, concordando, e depois subiu a uma nota acusadora. O gesso da igrejinha vibrou. O sol quente do meio-dia brilhou através das janelas de vidro liso. Como que em atitude de dor, o pastor abaixou lentamente os braços magros, o rosto esquálido; um soluço seco soou em sua garganta. Ele era velho e muito estúpido, apenas um pouquinho menos estúpido do que sua congregação. Suspirou, amedrontado: “Confiança, confiança. Amor, amor”.
Nunca fora tão comovente. Sob a aba dos chapéus de palha baratos, as mulheres enxugaram os olhos furtivamente e espiaram os vizinhos para verificar se seus “sentimentos” haviam sido notados... e aprovados. Alguns homens tossiram roucamente e moveram os pés metidos em botas pesadas. O órgão quase soluçou. Uma criança choramingou ao calor do verão; uma poeira amarela entrou pela porta aberta. A luz era intensa, ardente, dura. O pastor começou a desejar que as cestas da coleta contivessem hoje mais do que habitualmente, pois havia duas semanas que ele não comia carne, com exceção de um frango magro no último domingo. Sob as pestanas claras, examinou a congregação e ficou satisfeito por ver que a estimulara mais do que nunca.
Ele falou maciamente e com tremolos: “Amar ou perecer, amar ou perecer. É esta a Lei e nada mais existe. Se, depois de Deus, não amarmos o próximo de todo o coração, é que somos mais pobres do que o pó e mais baixos do que os animais. Que adianta possuirmos as riquezas de Midas, se não amamos? Nada somos. Confiança, confiança. Aquele que não confia em seu próximo é maligno. É mau. Há um pecado negro em seu coração. Amor! Confiança!”
O órgão gemeu, concordando, e depois subiu a uma nota acusadora. O gesso da igrejinha vibrou. O sol quente do meio-dia brilhou através das janelas de vidro liso. Como que em atitude de dor, o pastor abaixou lentamente os braços magros, o rosto esquálido; um soluço seco soou em sua garganta. Ele era velho e muito estúpido, apenas um pouquinho menos estúpido do que sua congregação. Suspirou, amedrontado: “Confiança, confiança. Amor, amor”.
Nunca fora tão comovente. Sob a aba dos chapéus de palha baratos, as mulheres enxugaram os olhos furtivamente e espiaram os vizinhos para verificar se seus “sentimentos” haviam sido notados... e aprovados. Alguns homens tossiram roucamente e moveram os pés metidos em botas pesadas. O órgão quase soluçou. Uma criança choramingou ao calor do verão; uma poeira amarela entrou pela porta aberta. A luz era intensa, ardente, dura. O pastor começou a desejar que as cestas da coleta contivessem hoje mais do que habitualmente, pois havia duas semanas que ele não comia carne, com exceção de um frango magro no último domingo. Sob as pestanas claras, examinou a congregação e ficou satisfeito por ver que a estimulara mais do que nunca.
.
.
.
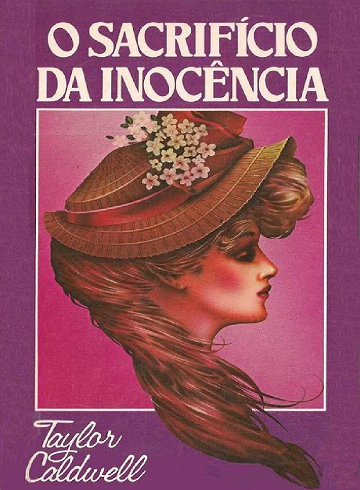
.
.
Conhecia todos bem e intimamente. Casara muitos deles, batizara um número maior ainda e enterrara seus mortos. Conhecia-lhes as culpas e não tinha compaixão de suas fraquezas, de seus sofrimentos espirituais e físicos. Tudo era pecado, tudo era maldade. As crianças recendiam a isso, até mesmo as que estavam no colo das mães. Todas as mulheres eram intrinsecamente dissolutas, todos os homens eram fornicadores, adúlteros, infiéis e mentirosos. Confiança! Amor! Que sabiam eles dessas coisas? O pastor soluçou em seco e deixou que seus olhos pálidos e semicerrados perpassassem em cada um dos rostos submissos, cada um dos rostos cansados, cada um dos rostos tristes, cada um dos rostos jovens. Pecadores, todos eles, prontos para serem ceifados e queimados.
Ele viu sua jovem neta, a certa distância, arrumadinha e limpa em seu vestido domingueiro e um chapéu de palha com rosas vermelhas de algodão. Amelia, ah! Era uma santa, a única santa naquela igreja. Assim como todas as moças presentes, tinha uma boca pequena, rosada, recatadamente rígida, tez pálida, pestanas longas e caídas e cabelos em cachos chegando-lhe aos ombros. Perto dela, mas não muito, estava sentada aquela moça horrível, Ellen Watson, com seu vestido grosseiro, que fora lavado tantas vezes que o primitivo tom azul era agora branco; a bainha, abaixada muitas vezes, estava enrugada e, quando era passada, resistia ao ferro. Ela não usava chapéu e isso era um insulto tanto para a igreja como para o pastor. Era a única pessoa do sexo feminino que estava de cabeça descoberta e isso o ofendia. Além do mais, não estava de olhos baixos, em atitude suave e tímida, como convinha a uma menina. Os olhos fitavam o pastor atentamente; ele podia ver-lhes o brilho azul. Ellen inclinava a cabeça como se ele ainda estivesse falando e ela concordasse plenamente com o que era dito. Tinha treze anos, a mesma idade da querida Amelia, A esmola que ela daria seria, como de costume, um pêni de cobre, e isso também seria um ultraje.
Ele estava satisfeito com a fealdade de Ellen. Lá estava ela, sentada na beirada do banco duro, esperando que ele falasse novamente. Seus cabelos eram uma imensa massa vermelha flutuante, ondulada, brilhando ao sol, e não estavam presos por uma fita, como deveriam estar e como estavam os cabelos de todas as outras meninas. Tinham uma aparência turbulenta, até mesmo indomável, e tanta vitalidade que pareciam estalar, erguer-se espontaneamente ao menor movimento dela. Lembravam o crepitar do fogo. Ellen era, em tudo, maior que as outras meninas. Treze anos, era o que diziam. Dava a impressão de ter, no mínimo, dezesseis; seus seios núbeis e pontudos pareciam empurrar o desbotado vestido de algodão, como que tentando furá-lo. O pastor sentiu uma ligeira excitação e detestou aquela que a causava. Nenhuma pessoa, com um cabelo assim e com aquele corpo fino, mas maduro, poderia deixar de ser má, poderia ser outra coisa exceto uma armadilha para os virtuosos. Aquele rosto! Ele nunca vira um rosto assim em nenhuma menina-moça e nem numa mulher. Era quase quadrado, com um brilho de porcelana e muito branco, exceto pelo tom de damasco nas faces e nos lábios polpudos. A menina tinha uma covinha no queixo; as orelhas pareciam esculpidas em mármore, assim como o pescoço nu. O nariz era bem-feito, impecável. As mãos grandes, longas e finas e muito limpas, eram ásperas devido ao trabalho pesado. Unhas bem aparadas.
Ellen possuía grandeza e uma espécie de graça clássica. O pastor não sabia que ela era extraordinariamente bela e impressionante, ao ponto da perfeição. Ele notou-lhe os braços, nus até os cotovelos, redondos e brilhantes, sem nenhuma sarda ou verruga, e de novo ficou excitado. Uma armadilha para as pessoas corretas. Uma menina maldosa que logo seria uma mulher má. Uma menina hedionda.
Ellen fitou-o pacientemente com aqueles enormes olhos azuis de pestanas grossas e brilho dourado. Os seios macios ergueram de leve a fazenda gasta do vestido que os cobria. As mãos estavam entrelaçadas no colo. Os pés, nas botinas gastas, estavam ligeiramente cruzados. O vestido velho era curto demais e os tornozelos delicados estavam cobertos por meias pretas, cerzidas. A bainha dos vestidos das outras meninas da sua idade chegava ao alto das botinas, como deveria ser. A tia de Ellen, a Sra. Watson, não tinha vergonha de mandar a sobrinha à igreja, para ouvir palavras sagradas e admoestações, vestida daquele jeito, com roupas tão reveladoras? A menina parecia um pássaro chamejante no meio de galinhas marrons; havia à sua volta um espaço constrangedor, embora ridículo, como se ela fosse um pária. Não tinha amigos, nenhum parente, a não ser a tia que era ao mesmo tempo costureira e escrava dos afazeres domésticos. Era verdade que a Sra. Watson era pobre, mais pobre do que a maioria das pessoas na igreja, mas não poderia ela arranjar um corte de algodão para fazer um vestido para a menina, evitando que fosse um escândalo para a comunidade?
O órgão gemeu mais alto e a congregação se levantou com os livros de hinos nas mãos. O pastor disse: “Hino 59”. Ergueram-se vozes fracas e indecisas:
“O amor de nosso Pai, jorrado De seu farol, sempre arde e raia.
Mas Ele a nós deixa o cuidado Das luzes ao longo da praia”.
O canto era agora mais forte e mais seguro, e mais alto, também; mas acima dele se ergueu uma voz extraordinariamente bela, cheia, apaixonada e fervorosa. A voz de Ellen Watson.
“Mantém a luz, débil embora.
Joga um raio por entre as vagas!
Um nauta, a afogar-se nesta hora,
Salves talvez e ileso tragas!”
“Amém, amém”, gemeu o pastor, percebendo muito bem aquela voz poderosa e exultante que se erguia acima das outras como uma asa brilhante e melodiosa. Por que teria a vagabunda que berrar assim? Ele fechou a cara para Ellen, mas os olhos dela estavam erguidos e um sorriso beatífico lhe entreabria os lábios, deixando ver os dentes brancos iluminados pelo sol. Ela estava zombando do hino! Os vizinhos a encaravam, alguns com olhos contraídos, outros com ar vingativo e todos com expressão desaprovadora. Como sempre, Ellen não tomava conhecimento deles. Não reconhecia a maldade, nem mesmo quando incidia sobre ela, rejeitando-a, odiando-a. Não sabia que era desprezada. Sabia apenas que, a não ser pela tia, estava sempre sozinha. Isso não a perturbava. Reconhecia, com uma tristeza às vezes infantil, que ninguém queria sua companhia porque ela e a tia eram muito pobres, mais do que os pobres da aldeia.
Aceitava a vida com simplicidade e esperança e, às vezes, com alegria, porque era inocente e confiante por natureza.
O pastor conhecia todos os mexericos da aldeia de Preston. Ouvira muitas vezes dizerem, com sarcasmo, que a Sra. Watson não era nenhuma “Sra.” e sim uma estranha de outro lugar, e que Ellen não era sua sobrinha e sim sua filha ilegítima. Chegara a Preston, vindo do “interior” do Estado quando Ellen era criança, dizendo que era viúva e costureira e que estava pronta para “ajudar” nos serviços caseiros sempre que houvesse uma emergência. Nunca ia à igreja, embora mandasse Ellen. O pastor não duvidava da maledicência, das insinuações, dos insultos. Ellen bastava para despertar ódio imediato nos medíocres e pronta rejeição nos insensíveis e maliciosos. Murmurava-se que era vista frequentemente nos campos “com algum rapaz”, à noite. Sua beleza não impressionava ninguém, a não ser, de vez em quando, algum jovem ou algum lavrador lascivo. Era considerada “exibicionista” e repulsiva, além de, acima de tudo, ignorante. Sim, pois nunca parecia perceber a animosidade que a cercava.
Pelo fato de ser tão diferente — uma fogueira nas ruas de pedra era detestada e evitada pelas outras meninas, tão semelhantes umas às outras como os grãos de uma espiga de milho. Era singular, incomum, espetacular, tanto no rosto, no corpo, como nos movimentos e, portanto, despertava inimizade entre as uniformes, que não podiam suportar nenhuma variedade, nenhuma característica singular. A própria inocência de Ellen, obscuramente reconhecida, era uma afronta para aquelas que não eram inocentes, por mais que submissas e conformadas fossem na maneira de falar, na atitude e nas opiniões. Suspeitavam-na capaz de todas as vilezas, de todas as corrupções. Era acusada, entre as meninas, de atos, comportamento e palavras inomináveis, que não deveriam ser mencionados abertamente. Também isso Ellen ignorava. Aceitava as zombarias, os sorrisos furtivos e os insultos com uma serenidade e uma paciência que confirmavam os murmúrios insultuosos e faziam com que cabeças se inclinassem. Se uma colega perdia uma fita, uma moeda de cinco cents, um livro, um lápis, uma caneta, Ellen era a ladra.
Ela jamais compreendeu por que os maus e os mesquinhos acusavam os outros de maldade e de mesquinhez, principalmente quando estes outros eram pessoas incomuns. De vez em quando, percebia que suas companheiras a consideravam culpa da de algo misterioso e indizível e, em consequência disso, sentia no coração uma culpa confusa, uma autocensura que a tornava constrangida e triste durante algum tempo. Mas Ellen era inocente demais, alegre demais, confiante demais, ansiosa por agradar e conciliar, para poder sentir uma melancolia prolongada. Desculpava seus difamadores, sob pretexto de incompreensão. Frequentemente tinha pena daquelas pessoas, pois conhecia sua pobreza e a vida trabalhosa que levavam. Amor. Confiança. Somente ela sabia o que isso significava em sua total revelação. Os outros suspeitavam disso e a suspeita despertava a malícia alheia. Quando chamavam sua atenção para o comportamento maldoso dos outros, ela ficava apenas perplexa. “Você é uma tola, Ellen”, dizia a tia, em voz alta, impaciente. Ellen não respondia. Achava que a tia talvez tivesse razão e, com isso, experimentava uma sensação de vergonha. Mas não sabia por que era “tola”.
Pensava que era feia, pois era muito mais alta do que suas pequenas e mesquinhas colegas. Às vezes, invejava a beleza comum delas, os modos afetados, os sorrisinhos adocicados, as vozinhas, e fitava-as com ar tristonho. Elas riam de seus cabelos, de sua altura, dos grandes olhos azuis, e ela não sabia que isso era causado pela inveja, embora inconsciente. Sentia-se desajeitada, sem graça e esquisita. Quando se olhava no espelhinho manchado sobre a pia da cozinha, não via sua milagrosa beleza, seu colorido e seus traços perfeitos. Via distorção e não sabia que era a distorção das outras.
A tia dizia, com um suspiro: “Você não é nenhuma beleza como sua mãe, Ellen. Ela era pequena e arrumadinha, com cachos pretos e olhos cinzentos e brilhantes. Você não se parece com as outras pessoas e isso me preocupa. Paciência. Precisa tornar-se útil; neste mundo, é muito importante”. Até mesmo a opinião de May Watson sobre a sobrinha era distorcida pela lembrança de uma irmã estranha e risonha, que, embora não tivesse a coloração nem o gênio de Ellen, fora enigmática e suavemente zombeteira. Mary fora tão “diferente” em seu jeito trágico, quanto Ellen era “diferente” a seu modo. May ainda não sabia que temia por Ellen, assim como temera por sua própria irmã.
Quando Ellen saiu da igreja naquele domingo, ao meio-dia, ninguém falou com ela, embora olhares malévolos a seguissem e os lábios de muitos se torcessem numa expressão zombeteira. Como sempre, ela de nada se apercebeu. Apesar disso, um sexto sentido muitas vezes a tornava atenta àquelas manifestações de desagrado. Ela não tinha muito instinto de auto-preservação e não sabia, como nunca saberia, que isso era extremamente perigoso num mundo muito perigoso. “Se ao menos eu tivesse um bonito vestido novo, em vez deste que tenho há séculos”, pensava ela. “Em todo o caso, a Bíblia diz que Deus me ama e é só o que importa.” Pensou no que o pastor dissera: “Amar ou perecer”. Inclinou a cabeça. Sentiu no coração uma dor conhecida, um anseio peculiar, assim como uma espécie de exaltação que sugeria um futuro cheio de amor, de alegria e de aceitação. Tinha apenas que trabalhar e ser útil; isso responderia a todos os seus anseios.
Com suas pernas longas e bem-feitas, caminhou maciamente pelas pedras ásperas da única rua comprida da aldeia. Os cabelos revoltos balançavam-se ao vento quente e poeirento. Seu rosto tinha uma expressão de anseio e de expectativa. Pensou nas celebrações do próximo 4 de Julho e na banda que tocaria cantos patrióticos naquele lugar que, em Preston, passava por parque, logo depois dos limites da aldeia. Para ela, a música (até mesmo as marchas ruidosas de Sousa) era uma experiência extasiante. Quando ouvia um piano mecânico tocando uma “peça” em alguma sala, ou percebia o rangido alto dos novos fonógrafos em alguma casa, parava de repente na rua, incapaz de mover-se, sem tomar conhecimento do que se achava à sua volta, o rosto transfigurado, em êxtase. Isso despertava risos e franca zombaria nos transeuntes, principalmente nas crianças. Mas Ellen nunca tomava conhecimento dessas coisas, transportada para outra dimensão onde tudo era harmonia e mil vozes cantavam e tudo era compreendido, tudo era revelado. Àquela época, não sabia compreendê-las, sabia apenas que se contraía e se encolhia quando ouvia músicas modernas e melosas, cantadas com trêmulo sentimentalismo. Dizia de si para si: “Música barata”, mas não sabia exatamente o que isso significava.
Gostava mais ainda de música do que de leitura. Tinha em casa uma pequena biblioteca, volumes tirados das latas de lixo ou comprados por um cent na escola dominical, que constava de um volume estragado de Quo vadis?, uma coleção sem capa de sonetos de Shakespeare, David Copperfield, As aventuras de Tom Sawyer e uma Bíblia antiga com tipos tão pequenos que forçavam até mesmo a sua vista jovem. Ela lia e relia esses livros, animada por encontrar, a cada leitura, alguma coisa nova. Apesar disso, dispunha de pouco tempo para ler.
Ao passar pelas várias casas ao longo da rua, ouvia de vez em quando o martelar de um piano e vozes que cantavam um hino desarmonioso. Contraía-se ao ouvir aquilo, mas não sabia por quê. Tinha a obscura sensação de que Deus merecia maior grandeza e experimentava também uma vaga sensação de culpa — que agora crescia dia a dia — de que não deveria fazer objeção a qualquer som que se erguesse para um céu um tanto nebuloso. Mas havia em sua mente alguma coisa que exigia majestade e glória.
Essa rua, a mais comprida de Preston, gabava-se de ter as “mais belas casas da cidade”, casas que se erguiam arrogantemente atrás de belos gramados, com árvores salpicadas de um ouro poeirento. Ali havia cochos para cavalos, lajes para se subir nas carruagens e jardins estreitos atrás das residências. Ellen olhava para as casas com prazer, sem inveja, porque não sabia o que era inveja, sendo incapaz desse sentimento. Acreditava piamente que, em algum lugar, havia uma casa como essas à sua espera, com interiores sombrios e frescos, janelas com cortinas de renda, tapetes ricos, soalhos encerados e portas entalhadas.
Chegou a um gramado onde as margaridinhas brancas cresciam rente ao chão. Encantada, ajoelhou-se imediatamente para examiná-las. Tocou uma ou duas flores com dedos suaves e amorosos. As pétalas acetinadas imediatamente lhe lembraram a euforia da música, uma doçura infinita, o diapasão da perfeição. Fitou, maravilhada, os coraçõezinhos dourados, cheios de pontos minúsculos. Nunca lhe ocorreu apanhar uma das flores, nem esmagá-las nas mãos. Elas tinham vida própria, que ninguém deveria violar. Ellen não podia exprimir seu pensamento por palavras, mas a emoção existia.
Quando se ajoelhou na grama, com os cabelos brilhando ao sol, uma bela carruagem passou pela rua, levando um homem de meia-idade e um rapaz de uns vinte e dois anos. Este último segurava as rédeas de dois cavalos pretos de pelo reluzente. Quando viu a menina, puxou as rédeas. “Que beleza!”, disse para o companheiro, que também olhou para a moça.
— É verdade — respondeu o homem mais velho, com admiração. — Quem será ela? Nunca a vi nesta maldita cidade. Talvez seja recém-chegada. Mas um pouco vistosa demais, não? Parece uma jovem atriz.
O rapaz riu.
— Olhe para as roupas dela. Eu não diria uma atriz. Quantos anos terá?
O outro sorriu com indulgência.
— Ora, ora, Francis... Todas as moças bonitas o impressionam. É próprio da sua idade. Provavelmente é uma criada; deve ter quinze ou dezesseis anos. Podemos perguntar ao meu querido irmão. Olhe para ela. Que rosto bonito! Será que a cor dos lábios e do rosto é verdadeira? Hoje em dia não se pode saber ao certo, em se tratando de criadas. As patroas são muito condescendentes. Houve uma época em que as domésticas tinham meio dia de folga por mês; agora têm dois dias inteiros, e isso lhes dá tempo para a maquilagem.
— Aquele rosto não é de uma criada e nem tampouco de uma moça de bordel... se é que há um bordel nesta cidade.
Inexplicavelmente, o rapaz ficou aborrecido. A carruagem continuou a rodar. Ellen levantou-se, sem saber que fora alvo de exame e comentários. Seu rosto tinha uma expressão animada; sentia que tivera uma revelação da eternidade e não mais ouvia o lamuriar dos hinos nas casas. Começou de novo a correr. A cidade estava permeada de odores fortes de carne assada e de carne de porco, assim como do cheiro delicioso de galinha frita. Teve uma sensação de fome e apenas sorriu. Tinha um segredo; o mundo era infinitamente belo, infinitamente vivo, infinitamente movimentado. Animados por esse conhecimento, seus pés pareciam voar sobre o calçamento, dançar nas pedras da rua. Ellen queria comunicar a alguém o que sabia, mas não havia ninguém e ela não tinha palavras para se expressar. Não tinha um destino certo.
Chegou ao fim da rua comprida e viu à sua frente um espaço aberto, sem casas e sem gente. Agora podia distinguir as montanhas Pocono, de tons lilás e ouro, uma neblina opalescente pairando sobre elas contra um céu da cor de delfínios. Esse lugar era o seu favorito, amplo, vazio a não ser pela grama alta e pelas árvores, borboletas, pássaros e coelhos. Ellen olhou para as montanhas distantes e de novo teve uma sensação exultante, uma alegria oculta, com uma promessa oculta. Ali ela podia ter a ilusão de que não havia seres humanos à sua volta e sim apenas paz e promessas de êxtase, de poesia e de música. Quando suspirou, enlevada, seus olhos caíram sobre uma placa que dizia: “Terrenos à venda”, e ela sentiu uma tristeza profunda e sem nome. Logo haveria aqui casas que ocultariam as montanhas, paredes, tetos e chaminés estragando o seu pequeno mundo.
Ali na beirada da sarjeta, seu pé inquieto raspou uma página ou duas de um livro. Ela olhou para as páginas e inclinou-se avidamente para apanhá-las. Mas estavam manchadas de marrom por algum líquido enojador e apenas uma linha era legível. A menina leu: “Pope”. Era o fragmento de um poema:
“Onde aprazem vistas mil E somente o homem é vil”.
Ellen sentiu-se tomada de uma profunda melancolia, como sempre não expressa e apenas carregada de emoção. “Mas é verdade”, murmurou de si para si, assustada com o pensamento novo e inquietante. Teve novamente uma sensação de culpa e de vergonha, mas não sabia por quê. Enfiou a página manchada no decote e recomeçou a correr, de modo menos exuberante do que antes. Compreendia apenas vagamente que cada dia trazia um novo conhecimento que a tornava momentaneamente infeliz. Apesar disso, era muito moça e logo estava de novo saltitante. Lembrou-se das margaridas com seu misterioso sonho de esperança, só para ela.
Entrou numa ruazinha de casas amontoadas, todas mal iluminadas pelo sol, com gramados descuidados, cercas quebradas e alpendres decadentes. Aqui havia mais gente do que na rua comprida, crianças que berravam e pulavam, adultos desalinhados que gritavam. As calçadas estavam rachadas, a pintura velha, os degraus desgastados. Acima de tudo, os fonógrafos tocavam desafinados as modernas e detestáveis canções. Nos degraus estavam sentados homens de macacão, tomando cerveja. Ellen correu e, como de costume, foi seguida por vaias e assobios. Invadiu-a uma sensação de timidez e de degradação e ela se sentiu suja e exposta. Uma folha seca e amarelecida caiu de uma árvore que morria de sede sobre sua cabeça. Ela a apanhou. Começou a transpirar; seu rosto estava vermelho devido tanto à humilhação quanto ao calor. Depois, como sempre, ela pensou: “É porque sou tão feia e tão grande e não me pareço com as outras pessoas, de modo que devo perdoar esses homens, essas mulheres e essas crianças”.
Correu mais depressa, ansiosa por fugir à zombaria e à hostilidade. “Amor e confiança”, dissera o Reverendo Beale.
“Sou má”, pensou ela. “De certo modo, a culpa é minha. Eu deveria amar e confiar; é só o que importa.”
Chegou à menor casa da rua, que só tinha quatro cômodos pequenos e uma dependência nos fundos. Apesar disso, tia May a conservava limpa e arrumada, um anacronismo naquela vizinhança. As janelas brilhavam, embora a maioria não tivesse cortina. A grama estava aparada; no quintal havia apenas turfa amarela. Acima da janela da frente, via-se uma tabuleta: “Costuras e reformas. Ajuda em serviços caseiros”. Ellen correu para a porta, que ficava ao lado. Tia May pintara-a de cor-de-rosa, em contraste com o cinzento das paredes de madeira. Ellen abriu a porta e entrou na cozinha pequena e escura, que cheirava a repolho, a batatas cozidas e a entrecostos. Ellen estava novamente alegre. Entrecosto era seu prato favorito, e só era feito aos domingos e feriados. Seu pé ficou preso no linóleo rasgado e uma voz exasperada disse:
— Por que não tem cuidado, Ellen? Você é muito desastrada. E está atrasada. Sabe que tenho que ir à casa do prefeito às duas horas, porque ele tem visitas, o irmão e o sobrinho, de Scranton. Vá lavar-se. Seu rosto está vermelho e suado. Meu Deus, que menina difícil você é! Seu cabelo também está em desordem.
— Sinto muito — disse Ellen, com sua voz forte.
Ela sempre “sentia muito”, e ultimamente tinha uma sensação de culpa. Foi até a bomba, jogou água fria no rosto e tentou arrumar os cabelos. Olhou para o espelho rachado, sobre a pia de estanho, e seu rosto e seus cabelos o encheram de cor e vitalidade. Suspirou. Por que é que não podia parecer-se com Amelia Beale, a menina mais bonita da cidade?
— Sobre o quê aquele reverendo tolo falou hoje? — perguntou a voz exasperada da tia, perto do fogão enferrujado.
— Ele não é tolo, tia May — disse Ellen. Hesitou um pouco e continuou: — Falou sobre amar e confiar.
— Amar a quem? Confiar em quem? — perguntou May Watson, esbarrando um prato na pia.
— Ora... creio que em todo mundo, titia.
— Mais tolo ainda! Nunca sinta amor nem confiança por ninguém. Eu deveria saber! — Tia May ficou pensativa por uns instantes, depois continuou: — Ponha os pratos na mesa, se não for muito incômodo.
Ellen pôs na mesa dois pratos velhos de ferro esmaltado e saboreou a comida em antecipação. Ficou de novo alegre.
— Acho que no mundo há muita coisa para se amar e em que se confiar.
— O quê? — replicou a tia, em tom subitamente amargo. — Ellen, como estou sempre dizendo, você não é muito inteligente.
May era uma mulher pequena e magra, chata, com um rosto fino e cabelos da cor de um esquilo cinzento. Os olhos também eram dessa cor, e desiludidos. Nariz aquilino, sempre enrugado e vibrante. O vestido de algodão cinzento e branco estava limpo e bem passado. Usava um avental branco. Movia-se vivamente; tinha apenas quarenta anos e era murcha e enrugada e seca como uma erva morta. Seus olhos só brilhavam quando sentia cólera ou decepção e agora, ao fitar Ellen, brilhavam. Ellen já sabia costurar direitinho e tomar conta da casa. No ano seguinte, quando tivesse catorze anos, iria trabalhar numa casa de família, pondo fim àquela tolice de escola. Era o cúmulo “eles” agora conservarem as meninas na escola até os catorze anos, não permitindo que trabalhassem antes dessa idade. Dois ou três dólares por mês seriam muito úteis naquele lar em dificuldade.
— Depois que eu sair, você vai ter que limpar a cozinha, lavar os lençóis e as fronhas, varrer o banheiro lá fora e esfregar o chão de seu quarto — disse May Watson. — Procure fazer tudo direito. Você é muito descuidada.
— Sim, titia — respondeu Ellen. Olhou para a minúscula janela da cozinha e de novo teve uma sensação de tristeza.
— Vou perguntar à Sra. Porter, a mulher do prefeito, se ela pode tomá-la a seu serviço, Ellen, na próxima primavera — disse May. — Ela paga oito dólares por mês à cozinheira! Uma fortuna. Ouvi dizer que precisa de alguém para lavar a roupa. Espero que me dê esse serviço. Você teria, então, que tomar conta desta casa... — May acrescentou, com um desprezo encolerizado: — ...depois da aula.
Resmungando, colocou na mesa uma terrina amarela, fumegante.
— Entrecostos. Oito cents o meio quilo. Uma vergonha. Comprei um quilo. Não coma tudo. Comeremos o resto amanhã à noite, ao jantar. Ellen, por que está aí de pé, com cara de boba? Você enche a cozinha toda. É grande demais, como seu pai. — May prendeu a respiração, pois era a primeira vez em que falava a Ellen de seu pai.
A menina ficou alerta.
— Meu pai? Como era ele, ti tia?
— Moreno, de olhos castanhos, muito grande, com uma voz alta como a sua — respondeu May Watson, sentando-se numa das cadeiras barulhentas da cozinha. — Não pense nisso. Ele não prestava. Jamais consegui saber o que sua mãe viu nele. Não coma muitos entrecostos. Não entendo por que você está sempre com fome. Você não trabalha. — Então entristeceu-se, porque amava a sobrinha. Pensou: “Talvez eu possa trazer alguns restos de comida para a menina. Come-se bem, em casa do prefeito; ele tem uma bela fazenda e tudo o mais. Talvez um pedaço de carne, ou a ponta de um pão, ou uma fatia de bolo ou de torta. Ou um punhado de morangos. Mas a Sra. Porter é muito mesquinha, vigia tudo, e sua cozinheira é ainda pior”. May Watson pôs a mão no seu bolso grande. Poderia enfiar ali alguma coisa, quando ninguém estivesse olhando. Pois bem, era roubo e talvez pecado, mas Ellen estava crescendo e sempre tinha fome. A amargura de May Watson aumentou. Ela iria receber um dólar pelo trabalho de uma tarde e de uma noite; a empregada de lá estava doente. Diziam que o filho do prefeito “fizera mal a ela”. Fosse como fosse, a empregada fora despedida. “Sorte minha”, refletiu May. Pensou na pequena Alice, de quinze anos, órfã. Trabalhara durante dois anos para a Sra. Porter e nunca tivera uma tarde livre durante todo aquele tempo. Trabalhara desde o nascer do sol até a meia-noite, todos os dias. “Isto não me parece direito”, pensou May. Mas a verdade era que a menina fora educada “errado”. Nenhuma decência. May olhou atentamente para Ellen. Não precisava preocupar-se; a menina era feia demais para atrair qualquer homem. Mas talvez algum fazendeiro idoso quisesse casar-se com ela; Ellen era grande, forte, sadia, poderia trabalhar direito, se fosse bem mandada. Era a única esperança que May tinha, tanto para si própria como para a sobrinha. Antes de morrer, queria ver Ellen “instalada” na vida, com comida suficiente, um vestido domingueiro e um teto sólido sobre sua cabeça.
— Amar e confiar — disse May Watson. — É a história da vida de sua mãe, Ellen. Mas ela sempre foi uma tola. Ninguém poderia convencê-la de outra coisa. Sempre sonhando. Tudo maravilhoso para o. futuro. Nunca aprendeu que não há futuro para gente como nós. Apenas trabalho.
— Não me importo de trabalhar — disse Ellen.
A carne era um luxo, uma alegria para o seu paladar; e o repolho e as batatas estavam deliciosos. Ela olhou para os entrecostos com água na boca, querendo mais um, mas dominou-se. Ficariam para o jantar do dia seguinte.
— Pois bem, isso já é alguma coisa, em comparação... com sua mãe — disse May. Hesitou um pouco e continuou: — Pode comer outra batata, se quiser.
— Estou satisfeita — declarou Ellen, desviando o olhar da travessa tentadora. — Estava ótimo, tia May.
May Watson sentiu uma dor no coração. Colocou uma batata no prato de Ellen.
— Tenho mais duas para cozinhar — disse ela.
Em algum lugar em sua mente árida e sem horizontes, havia a sombria convicção de que, de algum modo, “as coisas não estavam certas” quando se tratava de gente de sua classe. Alguma coisa estava errada no mundo que ela conhecia. May abafava essa revolta procurando convencer-se de que não estava pensando de maneira sensata, de que as coisas eram como eram e de que não adiantava discuti-las. Discutir e argumentar serviam apenas para trazer o tipo de castigo que caíra sobre sua irmã Mary. Quando May Watson rezava, o que era raro, ela o fazia para que Ellen compreendesse que nesta vida os pobres ficavam de cabeça baixa, falavam com voz mansa, trabalhavam com afinco e não pediam nada a não ser o direito de viver — o que nem sempre lhes era dado. Mary morrera de “tísica”. Ela quisera demais e, portanto, provavelmente sua sorte fora “justa”.
— Pode comer mais um pouco de repolho — disse May.
Mas Ellen, sorrindo, com os olhos azuis brilhando com o que só poderiam ser lágrimas, sacudiu a cabeça.
— Estou satisfeita. — Ainda estava com água na boca. — Titia, o relógio está marcando uma e meia. É uma boa caminhada. É melhor você ir; eu limparei tudo, aqui.
Haveria realmente lágrimas nos olhos de Ellen? pensou May Watson. Por que haveria ela de chorar? Comera uma boa refeição, pela primeira vez em três semanas. Houvera carne e o pão era só de três dias atrás. A verdade era que Ellen era esquisita como sua mãe. Ela, May, nunca soubera por que Mary chorara ou rira ou cantara.
— Já vou — disse May, bruscamente. —- Já que vai fazer a limpeza, Ellen, aproveite para lavar o armário da cozinha.
Levantou-se e dobrou cuidadosamente o avental, pois iria usá-lo na casa do prefeito. Parou de repente e olhou para a sobrinha com piedade e advertência.
— Este mundo é mau, Ellen — declarou ela, sem saber por que dizia isso. — Você precisa viver bem com ele e não esperar nada.
— Sim, titia.
May Watson suspirou, dizendo:
— Você não entende nada.
“Talvez seja porque não acredito nisso”, pensou Ellen. De novo a sombra de uma culpa indefinível a atingiu. Sua professora sempre dizia às alunas que deviam respeitar os “superiores”, os adultos e os que têm autoridade. Ellen sempre protestava intimamente. Daí a sensação de culpa. Levantou-se e beijou a tia no rosto.
— Não trabalhe demais — disse, timidamente, pois entre elas quase nunca havia manifestações de afeto.
— Que mais há para se fazer? — replicou May, dirigindo-se para o quarto de dormir em busca do chapéu velho e das luvas que guardava para ter um ar de “respeitabilidade”. Não seria muito inteligente ir trabalhar parecendo uma coitada, sem respeito próprio, Os patrões lhe pagariam menos. Colocou na cabeça o chapéu preto, amassado, e que já tinha dez anos. Mas as luvas eram brancas e limpas, e May carregava a bolsa com altivez. Hoje pediria cinquenta cents extras. A mulher do prefeito era reconhecidamente “sovina”. De repente May se sentiu animada e desafiadora. Cinquenta cents extras dariam para comprar quase o suprimento de uma semana de cebolas e de batatas e talvez um pouco de carne para o domingo seguinte, sem falar em meio litro de leite, um pão, uma barra de sabão Ivory e talvez uma toalha. As três toalhas que havia em casa estavam caindo aos pedaços, gastas e rotas. “Não está certo”, pensou May, sem saber por que chegara àquela conclusão. Não era “respeitável”. Saiu de casa, entretanto, como que ao toque de um clarim, de cabeça erguida, uma expressão desafiadora no rostinho pálido. Cinquenta cents. Ela os merecia, por horas de trabalho, além do dólar que lhe pagariam. Daria também um jeito de esconder alguns bocados para Ellen. Os pobres tinham que fazer alguma coisa para não morrer de fome, fosse ou não pecado. Deus era muito duro com os pobres. Parecia que Ele os odiava. “Creio que não sou cristã”, pensou May Watson, caminhando rapidamente pela rua. “Pois bem, talvez isso seja bom. Temos que cuidar de nós mesmos; ninguém mais poderia fazê-lo.” Os padres diziam: “Bom Jesus, suave e doce”. Esqueciam-se de Sua cólera. Talvez tivessem medo dessa cólera. “Nada está certo neste mundo”, pensou May Watson, consternada e confusa. Pensou em sua irmã, Mary, que desafiara o mundo, sorridente, e seguira seu caminho para a morte. “Não estou pensando direito, hoje”, disse May de si para si. Lembrou-se das lágrimas nos olhos de Ellen, aqueles enormes olhos azuis tão parecidos com... Suspirou de novo. Melhor apenas trabalhar... e aceitar. Não adiantava querer coisas que não eram “corretas” e merecidas. Deus tinha pensado em tudo: os ricos eram ricos e os pobres eram pobres, e era essa a ordem. “Onde está a sua ruiva sapeca?”, gritou um homem, esparramado nos degraus escalavrados da escada de sua casa. May Watson estremeceu. Talvez Deus tivesse razão ao odiar os pobres. Às vezes eles mereciam isso. Em todo o caso, provavelmente a maioria das pessoas tinham o que mereciam, pensou ela, com um sorriso torto. “Com certeza nasci sem grande inteligência e é por isso que minha vida é o que é. E Ellen nasceu feia e terá que trabalhar arduamente durante toda a vida.”
May Watson chegou à casa da família Porter, a mais bonita na rua comprida, e desceu por um caminho de pedras cercado de brilhantes folhas de louro. As sombras dançavam nas pedras quentes, mas ali estava mais fresco e ela podia ver, além da casa, os inúmeros canteiros coloridos descendo para um mirante e para moitas verdes. Ela passou por janelas com cortinas de renda, as vidraças refletindo seu rosto cansado. Ouviu risos no terraço dos fundos e o tilintar de copos de limonada e de gelo em jarras de cristal. Suspirou. Talvez a Sra. Jardin, a cozinheira, estivesse hoje de bom humor e guardasse um copo para que ela, May, se refrescasse. Não era, entretanto, provável. A Sra. Jardin era muito parecida com a patroa em sovinice, e às vezes a superava. May bateu na porta e entrou. O chão da cozinha e as paredes eram de tijolos vermelhos, encerados, de modo que brilhavam ao sol que entrava pelas janelas abertas. A pia era de “louça” e tinha água corrente, tanto quente como fria, coisas próprias da cozinha de um rei. O fogão a lenha exalava odores de madeira queimando; a fragrância que vinha de grandes panelas de ferro era mais do que convidativa. Mas o aposento estava muito quente e May não pôde respirar direito.
A Sra. Jardin era uma mulher gorducha e baixinha, de rosto jovial e olhinhos pretos como carvões, os cabelos negros presos em coque no alto da cabeça. Suas faces estavam vermelhas e suadas. Usava um vestido florido que May fizera para ela e um avental branco engomado que lhe chegava aos tornozelos. Estava sempre sorrindo, era geralmente jovial e por isso tinha fama de ser uma mulher alegre. Mas, conforme May sabia, atrás daquela fachada amável havia uma alma de gelo e de ferro. Era obsequiosa com os “superiores”, maliciosa e cruel com os inferiores, com os quais se mostrava impiedosa. Era também faladeira e-invariavelmente pensava o pior de todo mundo. Estava sempre descontente com May Watson, que nunca tinha nenhum mexerico sobre a aldeia para lhe contar. Fitou May, com seu olhar vivo.
— Com certeza você não pôde vir antes — disse.
Tinha uma voz de mocinha, estridente e imatura, que achava tentadora, principalmente quando se dirigia ao sexo oposto. Tivera dois maridos, que, felizmente para eles, haviam morrido não muito depois do casamento e aos quais ela se referia como “aquelas pestes”. Viúva e sem filhos, estava bem de finanças. Em suas orelhas rosadas viam-se brincos de ouro.
Tirando o chapéu e as luvas e amarrando o avental, May disse:
— Ainda não são duas horas. Estou adiantada. — Olhou furtivamente para os armários de madeira contra as paredes de tijolos, à procura de uma fatia de bolo ou de torta ou mesmo da pontinha de um presunto que pudesse roubar para Ellen.
A Sra. Jardin percebeu esse olhar.
— Se você não tivesse chegado tão tarde, poderia ter comido um pedaço de torta de cereja, de ontem. Guardei-o para você. Depois pensei que talvez não viesse, de modo que o comi.
May encolheu os ombros e esfregou as mãos ásperas, para secá-las.
— Acabei de comer. Estou sem fome. Pois bem, que é que devo fazer primeiro?
O vento quente fez com que os galhos de uma árvore rangessem contra a janela; as folhas ficaram douradas, devido à luz. Mas, na cozinha, estava escuro e o fogão fumegava. Os tijolos vermelhos das paredes estavam cheios de vapor.
— Você pode limpar os morangos que estão naquela tigela — disse a Sra. Jardin. — Depois pode descascar as batatas, lavar a alface e descascar as ervilhas. — A voz de mocinha tornou-se mais estridente ainda: — Todo esse trabalho e ninguém para ajudar!
May Watson teve uma ideia. Com ar desinteressado, disse:
— Pois bem, há a minha sobrinha, Ellen. Ela poderia vir aqui ajudar durante o verão. Talvez um dólar por semana. Seis dias.
A Sra. Jardin arregalou os olhos, incrédula, e disse, bruscamente:
— Um dólar por semana para um trabalho de, talvez, algumas horas por dia! Alice ganhava isso pelo trabalho de um mês, doze horas por dia, sete dias na semana. Acha que somos milionários, nesta casa? Trabalho aqui há quinze anos e acabo de ter um aumento de um dólar, o primeiro em todo esse tempo. Isso significa que vou receber nove dólares por mês. Um mês inteiro, e estou aqui nesta cozinha às cinco e meia da manhã e nunca saio antes das oito da noite! Além do mais, aquela sua menina não está na escola?
— Quero que ela se eduque — disse May. — É mais do que justo. Ela tem letra muito boa, também, e sabe cuidar da casa. Seria uma boa ajudante, Sra. Jardin. Sempre de bom humor; nunca fica emburrada. E tem muito boa vontade. Não acha nenhum trabalho duro demais.
Os olhinhos da Sra. Jardin se contraíram a tal ponto que quase desapareceram nas faces gordas e coradas. Ela sorriu maliciosamente.
— Quantos anos tem a menina? Ouvi dizer que tem quinze. Velha demais para estar na escola.
May hesitou. Depois respondeu, embora se contraísse intimamente:
— Ellen tem só catorze. Não tem quinze.
— A última vez que você me falou nisso, May, a menina tinha acabado de fazer treze.
— Ela fez catorze na semana passada — disse May, contraindo-se de novo com a mentira.
— E você vai deixar que ela volte para a escola em setembro? Tolice. Está certo. Falarei com a Sra. Porter sobre Ellen vir ajudar, aqui, no verão. Setenta e cinco cents por semana, com direito ao jantar, e isso é muito, May.
“Poderia ser pior”, pensou May. Em todo o caso, setenta e cinco cents por semana seriam de grande ajuda. Além do mais, Ellen faria uma refeição lá e isso seria uma economia. May encolheu os ombros.
— Seja como for, pense nisso e fale com a Sra. Porter, embora ache que é um ordenado de escravo. -— May respirou profundamente e continuou: — E, antes de começar a trabalhar, aviso que hoje quero cinquenta cents extras.
— Está louca — replicou a Sra. Jardin rindo e sacudindo a cabeça. — Ande logo com esses morangos. Precisam ficar embebidos em açúcar, porque são os primeiros da estação e ainda estão um pouco azedos.
Apesar de sua habitual brusquidão, no íntimo May estava cedendo. Mas de repente sentiu um assomo de desespero. Suas mãos interromperam o trabalho. Raramente ficava desesperada, mas agora sentia uma tortura, enjoando-a, dando-lhe uma secura na boca.
— Preciso desses cinquenta cents extras. A senhora faz as compras da casa, aqui. Sabe como tudo está caro, os preços subindo cada vez mais. A gente paga quatro cents por um pão que custava três e ainda por cima é menor do que antes.
— Você quer um dólar e meio por nem mesmo um dia inteiro de trabalho? — perguntou a Sra. Jardin, consternada. — Está falando sério? Não está louca?
— Não, não estou louca. Provavelmente não sairei daqui antes das onze horas da noite e isso significa nove horas de trabalho, de pé o tempo todo, servindo, limpando, lavando os pratos, ao passo que a senhora vai para a cama às oito ou às nove. Também sou humana, Sra. Jardin.
O rosto rubicundo da Sra. Jardin teve uma expressão astuta, não mais brincalhona. “Isso é o que você pensa, que é humana”, disse de si para si. “Você e aquela sua menina! Não têm nenhuma decência, nenhuma das duas. Humana!” Sacudiu a concha para May, dizendo:
— Um dólar é um dólar, foi o que você combinou, e é muito dinheiro. Hoje em dia os homens trabalham doze horas por dia, nas serrarias perto do rio e nas barcaças. Um dólar é um dólar.
May nem sempre era corajosa, mas seu desespero aumentara ao pensar em Ellen. Deixou os morangos e deliberadamente enxugou as mãos no avental.
— Está certo. Então, vou para casa agora... a não ser que você vá procurar a Sra. Porter para dizer-lhe que quero os cinquenta cents extras. E o que você fará, então? Eles têm visitas e você não pode fazer tudo sozinha, Ou talvez a Sra. Porter venha ajudá-la. Ela é bastante grande e gorda.
— Dobre a língua, May Watson! Você tem uma língua comprida e malcriada e tudo o mais! Falar desse jeito de uma dama como a Sra. Porter! Falta de respeito para com os superiores! — Apesar disso, a Sra. Jardin estava consternada com a ideia de mandar May embora e ter que fazer todo o trabalho sozinha, o pessoal de Scranton sendo tão cheio de histórias e querendo tudo bem feito, e a Sra. Porter com olhos que viam tudo!
— Cinquenta cents a mais — disse May Watson sentindo o perfume embriagador da vitória que se aproximava. — Pois bem, por que está aí parada?
A Sra. Jardin teve um desejo selvagem de dar na cabeça de May com a concha que empunhava.
— Um insulto! — exclamou. — Pois bem, vou falar com a Sra. Porter e é melhor você colocar o chapéu na cabeça e calçar as luvas e ir se preparando para sair!
May apanhou o chapéu e ficou segurando-o na mão, olhando com ar inflexível para sua velha inimiga.
— Estou esperando — disse ela.
A Sra. Jardin atirou a concha na pia e saiu furiosa. May começara a tremer. Talvez tivesse ido longe demais. Um dólar por nove horas de trabalho era satisfatório. Olhou à volta, com ar desesperado. Viu uma torta que fora cortada e de onde havia sido tirada uma fatia grande. Moveu-se tão depressa quanto uma barata, cortou uma fatiazinha e enfiou-a no bolso do avental. Sua tremedeira aumentou, assim como seu desespero. Ellen só possuía um par de sapatos e tinham sido remendados várias vezes, e já estavam ficando pequenos. May fechou os olhos e contraiu as pálpebras, sentindo-se mal. Se a Sra. Porter recusasse seu pedido, ela teria que se submeter.
A porta abriu-se novamente e a dona da casa, alta e maciça, corada, com um vestido de seda azul-marinho com franzidos, entrou seguida pela Sra. Jardin, que agora sorria maliciosamente. A Sra. Porter não era apenas papuda e gorda; parecia-se com uma ordenhadora madurona, pois sua pele era grossa e a boca tinha uma expressão cruel. Usava pulseiras de ouro nos pulsos grossos e seus cabelos desbotados estavam penteados à Pompadour, cheios de cachos e de tranças. Os olhos claros, grandes e de pálpebras vermelhas, com pestanas ralas, eram da cor de leite desnatado. Ela parecia chocada e incrédula.
— Que é isso, May? — Sua voz geralmente suave estava agora dura e áspera. — Cinquenta cents extras por apenas algumas horas, quando você combinou um dólar, o que é mais do que satisfatório! — Os franzidos farfalharam no decote e na barra da saia. — Sua Excelência, o prefeito, paga a seu principal contador apenas seis dólares por semana, semana de seis dias, às vezes com trabalho à noite, e o Sr. Hodgins se mostra agradecido! Ao preço que você está pedindo... — ela fez mentalmente um cálculo rápido — ...receberia nove dólares por semana! Deve estar louca, May!
— Não é como se fosse por semana — disse May, agora visivelmente trêmula. — É apenas um dia e a senhoria aumentou o aluguel, mais cinquenta cents por mês. E minha sobrinha Ellen está precisando de um par de sapatos. Posso comprar um par na loja de segunda mão por setenta e cinco cents. E ela precisa dos sapatos, Sra. Porter. Não posso permitir que fique aleijada.
— Não estou dirigindo um asilo de órfãos, May — replicou a Sra. Porter, fazendo com a mão um gesto impaciente, como se afastasse uma mosca importuna. — Sua... sobrinha, pelo que me disse a Sra. Jardin, tem idade suficiente para ganhar a vida, em vez de ficar à toa em casa, dormindo e comendo. Uma meninona daquelas! Catorze anos. — Olhou para a Sra. Jardin, que parecia estar se divertindo. — A Sra. Jardin me disse que Ellen está precisando de emprego. Pagarei à menina setenta e cinco cents por semana, se você for sensata, May, e compreender a enormidade do que está pedindo.
“Ellen, Ellen”, pensou May Watson. Mas de novo sentiu o gosto da vitória. A voz da Sra. Porter adquirira uma expressão melíflua. Por isso, com uma teimosia que a surpreendeu, May disse:
— Preciso desses cinquenta cents extras, Sra. Porter. Preciso, realmente. Talvez apenas desta vez.
A Sra. Porter sorriu friamente. Abriu as mãos, dizendo:
— Está certo, May. Mas pode ficar certa de que não me esquecerei disso. Nunca vi ingratidão igual. Tenho sido sua amiga, May, chamando-a sempre que a Sra. Jardin precisa de ajuda, numa emergência. Mas gente de seu tipo não sabe o que é gratidão. É esse o mal do mundo de hoje. Ingratidão, imposição. Você está com a faca e o queijo na mão, May. Não fosse por isso, eu a despediria imediatamente. Você deveria ter vergonha. — Olhou para seu vestido e continuou: — E você me cobrou um dólar por uma reformazinha! Um dólar! Só para descer a bainha e colocar uns babados.
— Foi tudo feito à mão — disse May. — Não foi trabalho à máquina, como o resto. À rirão. Levei três noites para fazer isso. Foi mais do que alargar a saia e acrescentar os babados. Tive que desmanchar tudo e costurar de novo. Pensei que nunca terminaria. — Çom pouco habitual franqueza, May acrescentou: — Sua cintura engrossou muito nos últimos dois anos, Sra. Porter.
O rosto grosseiro desta ficou sombrio e pareceu inchar de raiva.
— Muito atrevida, não é? Sem papas na língua. O mundo está se tornando um lugar muito ímpio, May Watson.
— Sempre foi — replicou May, admirada da própria coragem. — Nunca prestou.
A Sra. Porter sorriu de novo, mais sombriamente ainda, e disse:
— Você deve saber, não é mesmo... Sra. Watson?
— Claro que sei — replicou May, sentindo uma grande amargura, que a deixou doente.
O rubor do rosto da outra aumentou e os olhos leitosos brilharam.
— Que é que você esperava, sendo do tipo de gente que é? Muito bem. Tenho convidados. Estou me diminuindo ao discutir com você, May Watson. Hoje terá os seus cinquenta cents extras. — Relanceou o olhar para a Sra. Jardin e hesitou.
— Você pode mandar a sua menina, Ellen, aqui amanhã às seis em ponto. Trata-se de uma emergência. Setenta e cinco cents por semana. Seja como for, vamos experimentá-la. Das seis da manhã até a Sra. Jardin dispensá-la, mais ou menos às sete da noite. Pelo menos isso está combinado?
— Sim, está combinado — respondeu May.
A Sra. Porter virou-se bruscamente e não olhou de novo para a decepcionada Sra. Jardin. Saiu rapidamente da cozinha para ir ao encontro da família e dos hóspedes, cada um de seus movimentos expressando exaspero e repulsa.
— Pois bem, você ganhou — disse a Sra. Jardin a May, que estava de novo comprimindo as pálpebras, agora para conter as lágrimas. — Nunca pensei que iria ver uma coisa dessas acontecer. Quando chegar o Natal, vou exigir mais um dólar por mês e, se ela não concordar, pode procurar outra. Talvez eu lhe deva ser grata, May.
Esta nova aliança surpreendeu May, que abriu os olhos úmidos.
— Deixar que as pessoas morram de fome, é o que fazem
— observou ela, com voz trêmula. — Qualquer dia destes, não vamos mais aguentar isso.
— Amém — disse a Sra. Jardin com uma risadinha. —
Agora cuide desses morangos. O jantar é às cinco, como sempre aos domingos. — Deu com a concha uma pancadinha amistosa no traseiro magro de May e começou a cantar em voz estridente, com aparente bom humor.
“Sim, marchamos em rumo à Terra de Beulah, à Terra de Beulah,
Sim, marchamos em rumo à Terra de Beulah, de manhã... Vamos lá!”
“A Terra de Beulah”, pensou May. “Onde é que ficará isso? Em todo caso, não é para gente como eu. Provavelmente é o inferno, quando já o temos aqui!”
Durante a ausência da esposa, o prefeito vertera uma boa quantidade de rum no copo de seu irmão e no de seu sobrinho. Piscou para eles, dizendo:
— Encham os copos com esta maldita limonada.
Era pesadão como a mulher, porém mais baixo e com gênio melhor. Mas não era menos explorador. Seu cabelo era sedoso e branco. Aos domingos se vestia com elegância, embora durante a semana, no escritório, usasse discretos ternos pretos. Naquele dia usava gravata larga e um alfinete de brilhante. O paletó era de um xadrez largo, cinza e branco, que ele considerava “esportivo”, e a calça, de um branco reluzente.
— Onde está Jeremy? — perguntou Francis Porter, sobrinho do prefeito.
A Sra. Porter entrou na varanda, de fisionomia fechada, mas ao ouvir o nome do filho sorriu largamente e com orgulho.
— Vai jantar com a sobrinha do agente funerário de Scranton — disse ela. — O pai da moça é dono das maiores fundições de lá, e ela é filha única, como o nosso Jeremy. Temos esperança... — A Sra. Porter disse isso maliciosamente, sentando-se numa enorme cadeira de vime e suspirando levemente. — Este é o segundo verão que passam juntos, e creio que os dois se correspondem regularmente. Além do mais, é uma pequena bonita e bem-educada.
— Por falar em moças bonitas, vi uma beleza, hoje — observou Francis.
Era um rapaz muito esguio, com belos cabelos louros e grandes olhos azuis, o que lhe dava uma aparência interessante. Sua boca era grande e suave. “Ele quase chega a ser bonito”, pensou a Sra. Porter generosamente, pois se melindrava com a óbvia, se bem que um tanto frágil, beleza do rapaz, diferente do aspecto “viril” do querido Jeremy.
— Oh? — exclamou a Sra. Porter, arqueando as sobrancelhas tão ralas que nem pareciam existir. — Quem é? Há apenas uma moça mais ou menos bonitinha nesta cidade. — Contorceu a boca com ar divertido, pois detestava Preston, tendo vindo de Scranton. — Apenas bonitinha. Amelia, a neta do Reverendo Beale. Muito bem educada, também, com boas maneiras. Mais ou menos catorze anos?
— Mais ou menos — disse Francis. Seu pai, que se parecia muito com o prefeito, embora fosse um pouco menos maciço, riu, dizendo:
— Francis ficou enfeitiçado. Quando a viu na rua hoje de manhã, provavelmente vindo daquela pobre igrejinha em Bedford, Francis fez o cavalo parar, para olhar a menina. Confesso que também a achei bonita.
— Um rostinho doce, de boca rosada e cabelos castanhos e macios?
— Não, tia Agnes. Ela não é doce; tem um rosto forte e bonito, com uma coloração extraordinária. E uma massa de cabelos ruivos, caindo-lhe nas costas. Uma pequena alta, graciosa.
A Sra. Porter contraiu as sobrancelhas, refletindo. Depois exclamou-, com deliciada hilaridade:
— Oh, não, Francis! Só pode ser aquela pequena feia chamada Ellen Watson, cuja suposta tia está neste momento na minha cozinha, ajudando a Sra. Jardin!
— Então não pode ser a mesma moça, porque a que eu vi tinha um rosto magnífico, que chama a atenção. E nunca vi cabelos tão bonitos em toda a minha vida. Parecia uma catarata de cobre, ao sol, não estando presos com nenhuma fita.
— Vocês podem notar que meu filho ficou enfeitiçado — observou Walter Porter. — Também a achei muito bonita. Rapariga diferente.
O rubor do rosto de Francis se acentuou.
— Peço-lhe perdão, papai, mas ela não é uma “rapariga”. Tinha um ar de... Pois bem, de grandeza. Orgulhoso, até mesmo nobre. Angelical, em outra acepção da palavra. Nunca vi uma moça igual. Não se parece com ninguém. Principalmente com ninguém de Preston, onde, de um modo peculiar, todo mundo se parece.
— Nesse ponto, concordo com você — observou a Sra.
Preston, suspirando. — Gente muito monótona, a desta cidade. — Olhou para Francis com animação. — Se você não tivesse dito que essa sua pequena misteriosa era bonita, eu pensaria que se tratasse de Ellen Watson, ou pelo menos é este o sobrenome que sua tia lhe atribui. Há muitas histórias... Não, não pode ser Ellen Watson. Ellen não tem atrativos, uma menina grande que parece mais velha do que realmente é. Por falar nisso, ela vai trabalhar para mim neste verão, e você poderá ver, você mesmo, Francis, que não é a pessoa a quem se refere. — A Sra. Porter riu de leve. — Mesmo assim, fico imaginando quem será a menina que você viu. Cabelos vermelhos! Ellen é a única na cidade que tem cabelos vermelhos, embora eu tenha notado que você prefere descrevê-los como cor de cobre. — Ficou um momento pensativa e perguntou: — Ela estava bem vestida?
— Não; muito pobremente, para dizer a verdade. Notei que seus sapatos estavam rotos, embora engraxados.
A Sra. Porter ficou assustada, mas olhou para o sobrinho com ar furtivo.
— Não sei quem poderá ser. Está certo, veremos amanhã, Francis.
Walter Porter estivera refletindo. Disse, então:
— Acabo de me lembrar... Vi uma mulher assim, ou antes, o seu retrato, quando eu tinha a idade de Francis e estava visitando um amigo meu em Filadélfia. Era moça, mas já tinha morrido. Deixe-me ver: uma tal Amy Sheldon, de uma ótima família de Filadélfia. Era mãe de meu melhor amigo, John Widdimer, mas morrera pouco tempo depois de ele ter nascido. Visitei-o algumas vezes nas férias da universidade, e ele ia visitar-me em Scranton. Lembra-se dele, Edgar?
O prefeito inclinou a cabeça e perguntou:
— Que fim levou? Pensei que tivesse uma grande fortuna. Uma das melhores famílias de Filadélfia, muito rica também. Era um rapaz muito talentoso.
— Não se lembra, Edgar? — perguntou o Sr. Porter. — Eles tinham uma ótima estrebaria e ele estava sempre andando a cavalo. Foi morto por um garanhão que acabara de comprar, um corredor no qual depositava grande confiança. O velho Widdimer mandou matar o cavalo, o que eu achei um desperdício. John era um sujeito temerário e insistira em montar o cavalo, embora ainda não tivesse sido domado. Negócio muito triste, realmente. Muito triste. — O Sr. Porter suspirou. —
Nunca me esquecerei do retrato da mãe. Muito parecida com a menina que vimos hoje, cabelos e tudo o mais, e um rosto tão bonito! Uma pena.
— Ele era casado? — perguntou a Sra. Porter, intrigada.
— Não, não — respondeu o cunhado, sacudindo a cabeça. — Mas creio que estava noivo de uma das moças da família Brigham, muito rica, muito bonita. Uma tristeza. Acho que ela se chamava Florence. John gostava muito de mulheres.
A Sra. Porter olhava para o marido, desconfiada. Estaria Edgar “bebendo” novamente, depois de tantas promessas? O prefeito lançou-lhe um sorriso beatífico. Ela ficou furiosa. Nunca o perdoara por ter comprado aquela fazenda, mudando-se para Preston, embora se tivesse tornado prefeito e um dos homens mais importantes da aldeia.
Capítulo 2
Sentindo-se mais uma vez culpada, Ellen provou uma colherada do líquido frio da terrina de verduras e carne de porco. Depois colocou a terrina no armário e cobriu-a cuidadosamente. Começou a limpar o chão da cozinha, a mesa de madeira e as duas cadeiras fora de moda. Poliu o fogão quente, lavou a janela, torceu os três panos de prato e outras peças. Depois passou aos outros aposentos e chegou a seu minúsculo quarto de dormir sem uma única janela. Havia ali apenas uma cama estreita, coberta por um lençol branco, e uma comodazinha onde guardava suas poucas roupas. Tirou o pó e arrumou tudo, olhando de relance, com tristeza, para o espelho rachado, sobre a cômoda. Depois disso foi para o quarto da tia, onde procedeu à arrumação. Em seguida abriu uma porta e foi para a “sala”, um aposento pouco maior do que os quartos de dormir, mas onde, segundo a Sra. Watson, havia uma certa “riqueza”. A mobília constava de um sofá de mogno legítimo, de madeira torneada e de veludo esverdeado (a madeira estava riscada, mas bem envernizada, o veludo já completamente gasto), e de uma cadeira igual perto da janelinha, a única janela da casa. Via-se ali uma cortina de renda feita à máquina, engomada a ponto de parecer papelão. No chão havia um tapete quadrado, imitação dos tapetes de Bruxelas, o desenho rosado quase completamente apagado pelo tempo e por lavagens constantes. Numa mesinha perto do sofá, via-se um abajur velho, de uma elegância inesperada, com pingentes de cristal e cúpula branca em forma de sino. Ali na mesa ficava a querida Bíblia de Ellen, e ela era a única pessoa que a lia. Em contraste com os outros aposentos, caiados e manchados pela umidade, este tinha um papel de parede, árdua e impropriamente colocado por May. O desenho era de um rosa forte, com rosas que pareciam repolhos vermelhos e trepadeiras de um verde vivo e pouco natural. Ellen detestava aquele papel de parede que May achava “formidável”. Para Ellen, as trepadeiras pareciam contorcer-se e misturar-se e as rosas enormes eram como grandes manchas de sangue no meio delas. Apesar disso, embora se sentisse intimamente constrangida, Ellen sempre dizia à tia que o papel era “formidável” e digno das mais ricas salas da cidade. Nessas ocasiões, sentia uma emoção que ela não conseguia identificar, mas era um pranto íntimo, carregado de tristeza.
Ellen e May raramente entravam nesse aposento sagrado, exceto nos feriados, tais como o Natal e a Páscoa, ou durante a rara visita de uma senhora, em geral uma freguesa que vinha procurar May para a reforma de um mantô, de um vestido, ou de um penhoar. Atrás do sofá, oculta discretamente, estava a velha máquina de costura de May, de pedal, que ela comprara por dois dólares, dez anos antes. Tinha um estojo de nogueira “legítima” e era polida tão assiduamente quanto o resto da mobília e tratada com um zelo ansioso, pois era a proteção da tia e da sobrinha contra a fome. Não era bonita, mas tinha utilidade e, portanto, valor, de modo que Ellen a admirava e a prezava. Para sua mente ainda não de todo formada, um objeto deveria ser cheio de beleza, pois a beleza era a razão de sua existência, ou deveria ser útil, pois o trabalho tinha santidade e força. Ellen passou um pano nas superfícies já perfeitamente limpas, aproximou a cadeira um pouco mais da janela e evitou olhar para o papel de parede.
Levou os panos e os lençóis lavados e úmidos para o varal do quintal, onde havia uma cerca baixa que May pintara cuidadosamente de branco; a “casinha” também fora pintada de branco e erguia-se orgulhosamente, no fundo. Ellen dependurou as roupas no varal, assim como seu único vestido de verão, de algodão cor-de-rosa, só usado nas grandes ocasiões, tais como os domingos em que ia ao parque para ouvir um concerto da banda. Tinha quase três anos e fora feito por May; a marca reveladora da bainha fora coberta por um galão também feito por May. Tinha um babado à volta do decote e nas mangas, assim como uma faixa de seda azul. Ellen acabara de lavá-lo com todo o cuidado, pois iria usá-lo no dia 4 de julho, no piquenique da igreja. A menina olhou-o afetuosamente; acreditava que ele a tornava quase bonita e aceitável.
Ouviu uma voz baixa de mulher, rindo, e virou a cabeça. A velha Sra. Schwartz, gordíssima e baixa, com um sorriso que parecia a lâmina de uma faca, estava apoiada na cerca de May. Tinha uma massa de cabelos emaranhados e pintados, de um artificial tom castanho, olhos pequenos e brilhantes, nariz longo e protuberante e uma boca sempre com expressão irônica. Ela ganhava a vida “lendo a sorte” e também limpando as casas e “ajudando” nas festas da aldeia. Acreditava-se que era feiticeira. Era também ótima cozinheira e várias vezes tivera a bondade de recomendar May para trabalhos caseiros, assim como para lavar e passar. Mas May tinha medo dela e tratava-a com hostilidade, apesar de suas frequentes gentilezas. “Não gosto de sua quiromancia pagã”, dizia ela à sobrinha. “Pagã, é o que ela é. Fique longe dela, Ellen. Essa mulher pode dar-lhe azar, se quiser.”
Ellen achava-a fascinante. Havia na velha qualquer coisa de alegre e de inspirador, algo de excêntrico e de malicioso. A mulher tinha uma maneira velhaca de falar e de gesticular que atraía a honestidade, inata da menina. A Sra. Schwartz nunca era “melosa”, nem boazinha. Jamais dizia uma coisa polida, e todas as suas observações rudes eram acompanhadas de zombarias significativas. Tinha agora na mão um livro de capa rasgada e apontou-o para Ellen.
— Trouxe uma coisa para você, menina — disse ela. — Para cansar esses seus olhos bonitos.
Ellen correu ansiosamente para ela, recebeu o livro e segurou-o com mãos reverentes. Walden and other writings, de Henry David Thoreau. Ela abriu com cuidado as páginas manchadas e amarelecidas, para não rasgá-las. A Sra. Schwartz observava-a astutamente; viu a alegria do rosto jovem e contraiu os lábios irônicos, inclinando a cabeça com ar fatalista. Apontou para a página que Ellen examinava.
— Leia isto — disse.
Ellen leu, em voz alta:
— “Cedo o luto consome os tristes, os dolentes; sua estada é fugaz na terra dos viventes, bela filha de Toscar”.
A menina não compreendeu bem o que lera, mas sentiu no coração aquela conhecida punhalada de dor.
— “Bela filha de Toscar” — disse a Sra. Schwartz, olhando para Ellen e de novo inclinando a cabeça. — É assim que a chamo sempre, Ellen, minha pequena.
Confusa e perplexa, Ellen relanceou para ela o olhar e continuou a virar as páginas como um homem ávido examina a refeição à sua frente.
— Esse homem, Thoreau, não era nenhum covarde — disse a Sra. Schwartz. — Não acredito em nenhum pecado imperdoável, mas, se houver um, é a covardia. Ter medo da própria sombra, sorrindo e adulando para que as pessoas gostem de nós e não nos apunhalem... como fazem, quando têm oportunidade. Com medo de ofender o Demônio, ou os que aparecem com sua forma, apenas sorrisos e dentes à mostra e palavras de “amor”. Isso é que é mau, Ellen. Nada é pior do que aqueles que se dizem “irmãos da humanidade”. A gente precisa estar à espera deles o tempo todo e correr como uma lebre quando vê algum. Sim, senhor.
Uma sensação de desconfiança e de protesto se apossou de Ellen e ela foi tomada por um súbito abatimento sem saber por quê. Disse:
— Obrigada, Sra. Schwartz, devolverei o livro depois que o tiver lido.
— Não. É para você, querida. Encontrei-o no meio de uma tralha no sótão, hoje de manhã. Achei que você iria gostar. Gostará mais ainda, à medida que for crescendo. Foi o que aconteceu comigo, há muitos anos. — Sorriu para Ellen com uma expressão de estranho afeto. — “Filha de Toscar” — acrescentou.
— Por que me chama assim? — perguntou a menina.
— Porque me parece que é. — A velha olhou para o vestido de algodão no varal, soltou um suspiro forte e abaixou a cabeça por um momento. Depois fitou Ellen com um olhar terrível, penetrante, insistente, sábio. — Ah! Estes malditos mosquitos. — Esfregou as pálpebras enrugadas e continuou: — Como você é inocente! Provavelmente ninguém poderá ajudá-la, nem mesmo eu. Condenada... Isso é o que você é. Inocente.
Ellen fitou-a num silêncio perplexo. A Sra. Schwattz retribuiu o olhar com expressão penetrante.
— Sei que sua tia não admite a quiromancia. Acha que é uma coisa pagã ou pior ainda. Ela não lutará, a não ser que se veja contra a parede. Nada refinado, é o que ela acha. Pobre mulher. Boa mulher, também. Tudo muito triste. Ellen, nunca confie em ninguém e cuide bem do seu amor, como se fosse ouro valioso demais para ser gasto com os imprestáveis. Isso significa quase todo mundo. Sabe o que diz a Bíblia? “Ninguém, a não ser Deus, é bom.” Às vezes não acredito nisso tampouco. Do contrário, o mundo não seria essa porcaria. Não se preoçupe. Sou pagã; chamam-me de cigana, embora eu descenda de alemães. Mas tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir. Leia isto, de um poeta pagão:
“Ó Vós, que o homem do pó mais grosseiro amassastes
E que no Paraíso a serpente enredastes...
Eis, negro do pecado, o rosto
Do homem. É que o perdão lhe destes — e o tomastes!”
Ela cacarejou para Ellen, que de repente ficara séria, com expressão alarmada.
— Toca o coração, não é mesmo? É algo para se lembrar, sempre. É por isso que tenho minhas dúvidas a respeito de Deus. Mas não a respeito do Diabo. Ele é real. Que é que-a Bíblia diz dele? “Príncipe deste mundo.” Nada poderia ser mais acertado. Estou lhe dizendo isso, Ellen, porque tenho medo por você. Dê-me sua mão esquerda — acrescentou, bruscamente.
Ellen hesitou. Pertenceria a Sra. Schwartz “ao Demônio”, conforme diziam os vizinhos? A menina deu à mulher a sua mão fina e longa, muito bem-feita. A Sra. Schwartz olhou para as calosidades e deixou de sorrir.
— Sim, uma inocente nata — disse. Sua voz se tornara áspera, como se ela estivesse tentando dominar uma sensação de angústia. — Uma inocente... amaldiçoada. Mas isso sempre foi verdade. Os inocentes são amaldiçoados. Nunca aprendem o que este mundo é, ou o que são as pessoas que estão nele. Mate-os e eles apenas parecerão admirados. Nunca aprendem. Estúpidos, é o que digo. E, no entanto... — Ela fez uma pausa e continuou: — Talvez, se é que há um Deus, Ele tenha posto os inocentes aqui como uma “advertência”, como diz a Bíblia. Ao que parece, Ele não tem real afeto pelos inocentes. São apenas uma espécie de vítima para provar algo que não compreendemos e jamais compreenderemos. — Os lábios da mulher se contorceram, como se ela tivesse provado alguma coisa azeda. — Talvez o Demônio, ou Deus, compreendam. Ninguém mais compreenderá.
Continuou, examinando as mãos maltratadas de Ellen. A menina disse:
— O padre disse hoje que devemos amar e confiar.
A outra ergueu os olhos com um brilho feroz. A expressão da boca era malévola.
— Ele disse, hem? Que é que ele sabe a esse respeito? “Amor e confiança.” A fórmula da morte, diria eu. Morte cruel... neste mundo. Sim, está mesmo aqui, na palma de sua mão, minha pequena. Escrito claramente. Terrível. Sim, terrível. Ódio e suspeita... é com isso que se prospera neste mundo, é a única maneira. Receio que você nunca chegue a descobri-los, e isso é o que é terrível para alguém como você.
Examinou de novo a palma da mão de Ellen.
— Nada mau. Você tem um pouco de sorte aqui, e vai ver logo. Mas isso não a levará ao que este mundo tolo chama de felicidade. E, dinheiro! Muito dinheiro. É um consolo. Não há nenhum substituto para o dinheiro. Nunca. Não amor, não alegria. Apenas dinheiro. Bem, isso de certo modo me satisfaz. Mas o dinheiro pode também ser uma maldição... para os inocentes. “Filha de Toscar.”
Apesar de tudo, Ellen estava ingenuamente satisfeita. Também ela examinou a palma de sua mão.
— Pois bem, eu gostaria de ajudar tia May, com dinheiro. Quando é que vou recebê-lo?
— Não durante alguns anos, menina, mas você terá dinheiro, disso não há dúvida.
A mulher examinou a palma da mão de Ellen durante um longo minuto. Depois, como que amedrontada, deixou escapar dos lábios um som áspero e a largou. Revirou violentamente os olhos.
— Não se importe com o que eu disse; mesmo que seja verdade. Tenho apenas mais uma coisa para dizer: jamais acredite completamente em seu coração. Se bem que provavelmente não se lembrará disso. Os inocentes nunca se lembram das coisas que os machucaram. Você é como uma lesma sem concha. Prestes a ser agarrada e comida. Que mais lhe posso dizer? Um inocente não se preocupa com a verdade. Gosta de sonhar e de acreditar.
Ela virou-se e, apesar de seu volume, correu como se tivesse visto alguma coisa terrível e precisasse fugir. Mais perplexa ainda, Ellen observou-a partir. Chegando à sua velha e danificada casa, cuja porta era pouco mais larga do que a de May Watson, a Sra. Schwartz parou e virou-se para olhar para Ellen.
— Sabe o que diz a Bíblia, menina? “Os maus florescem como um loureiro verde.” E mais uma coisa: “Os filhos dos maus dançam nas ruas, alegremente”. Tenha isso em sua mente. Talvez lhe sirva de auxílio, quando você estiver mais precisada dele. — A velha sacudiu a cabeça e entrou em casa.
Ellen examinou a palma da mão. Não lhe dizia coisa alguma. Mas a Sra. Schwartz falara sobre dinheiro; dinheiro ajudaria tia May e era só isso que importava. O dinheiro faria desaparecer para sempre a constante tristeza do rosto da tia, o cansaço, o desespero. Sim, era só isso que importava. Animada, Ellen entrou em casa, cantando.
Viu o armário da cozinha, mas desviou o olhar da tentadora terrina amarela. A tia se queixava de que ela sempre tinha fome e Ellen supunha que era verdade. Havia um pedaço de queijo, um pouco de chá, uma fatia de pão e um pedaço de bolo murcho para o jantar. Mas isso era bastante, disse Ellen de si para si, corajosamente. Em todo caso, por que é que queria comer o tempo todo? Seu coração ainda estava animado com o que a Sra. Schwartz dissera. Logo haveria dinheiro, tanto para ela como para a tia. Apoiou-se na mesa lavada e esfregada, devorou o queijo, o pão e o bolo e ficou observando a água ferver, para fazer uma xícara de chá.
O sol descia no horizonte. De repente Ellen resolveu ir para a sala e sentar-se perto da janela. Correu para o outro aposento e atirou-se na cadeira. A janela dava para o oeste e o sol agonizante batia no canto da casa de pintura rachada, mostrando cada mancha, cada defeito, cada saliência. Era uma visão solitária e Ellen sentiu aquela profunda melancolia que não podia compreender, mas que permeava todo o seu espírito. Excepcionalmente, a rua estava silenciosa; apenas a luz solitária batendo nas tábuas da casa era nítida e lamentável e agourenta.
Depois o olhar de Ellen mudou misteriosamente de direção e ela se pôs a olhar para uma janela alta e estreita que deixava entrever tijolos rosados além das cortinas de damasco vermelho; a luz solitária lá estava na parede e nem mesmo as trepadeiras cor-de-rosa nas treliças podiam diminuir seu mau agouro. A menina ficou olhando, mal contendo a respiração. A luz se tornou mais forte, até mesmo brilhante, mas a tristeza daquela luz apenas cresceu sobre a imóvel parede de tijolos. Ellen sentiu atrás de si uma sala grande, sombria devido ao entardecer e completamente silenciosa, embora tivesse muitas peças de ótima mobília, espelhos dourados e reluzentes e um grande lustre de cristal, apagado.
Ellen soltou um gritinho de medo e a cena mudou de novo. Agora só havia as tábuas da parede e a luz que descia e o silêncio ecoante. “Estive sonhando”, pensou ela, olhando de relance para o aposento triste onde se achava. “Estive sonhando”, pensou de novo. A melancolia estava em seu peito como uma doença esmagadora que a mataria, como a triste lembrança (que não fazia parte de sua experiência) de uma coisa que ela jamais conhecera, jamais vira. Caía sobre ela devastadoramente. Ellen se pôs bruscamente de pé, correu para seu quarto, atirando-se na pequena cama dura, e começou a chorar.
Um som a despertou e ela sentou-se na cama, no escuro, pois adormecera.
— Tia May? — perguntou.
— Sim, sou eu. Onde é que você está, Ellen? São dez e meia.
A menina correu para a cozinha. May acendia a lâmpada de querosene sobre a mesa.
— Tive um sonho horrível — disse Ellen.
— Não tem mais o que fazer, a não ser sonhar? — perguntou May, contrariada. — Oh, Deus do céu, estou muito cansada. — A luz do lampião atirava listras amareladas na cozinha triste. — Tome isto aqui. Trouxe para você um pedaço de torta, uma fatia de pão, um pedacinho de presunto e um punhado de morangos. — Esvaziou o bolso do avental. Ellen soltou uma exclamação de alegria. May sorriu a contragosto.
— Que apetite você tem! — exclamou, estendendo a mão áspera e tocando afetuosamente os cabelos ruivos e revoltos da sobrinha. Ellen podia ser feia, mas afinal de contas não passava de uma menina e gostava de comer como o porquinho esfomeado que era. Ellen começou a encher a boca e a tia a observou com uma compaixão levemente sorridente. — Tenho boas notícias. Você vai trabalhar como criada da Sra. Porter durante todo o verão. Setenta e cinco cents por semana, e jantar! A partir de amanhã. Não é maravilhoso?
— Oh, tia May! Ainda hoje à tarde a Sra. Schwartz me disse que eu iria ter montes e montes de dinheiro! E tinha razão!
— Eu não disse que ficasse longe daquela feiticeira? Ela pode lhe dar azar, mas você nunca presta atenção no que lhe digo.
A menina atirou os cabelos para trás e sorriu, os morangos manchando seus dentes brancos.
— Mas é uma boa sorte. E ela me deu um livro, um livro maravilhoso, para eu guardar.
May tirou o chapéu e as luvas e parou cambaleante no meio da cozinha.
— Oh, Ellen, Ellen — murmurou. Depois, endireitou-se. — Hoje recebi cinquenta cents extras, e você poderá comprar aquele par de sapatos na loja de artigos usados. Tenha cuidado: que sejam bastante grandes e folgados para que durem um ano ou mais. Ellen, Ellen!
A menina parou de comer e fitou a tia. Depois, correu e abraçou-a quase chorando, tendo de inclinar-se para segurá-la devido à sua altura.
— Não se preocupe — murmurou. — Por favor, não se preocupe. Tudo é bom, tão bom para nós.
— Nada é bom para gente como nós — replicou May. De repente ficou exasperada, pois estava exausta, os pés inchados e latejando. Seus ombros doíam, as mãos ardiam devido ao uso de um sabão forte. Afastou Ellen, que a olhou ansiosamente, tendo agora no coração a conhecida sensação de culpa. A tia continuou:
— Você precisa aprender isso, Ellen, antes que fique muito mais velha. Nunca espere nada deste mundo. Nunca. — Os olhinhos de esquilo de May lançavam chispas de cólera, mas, apesar disso, ela tinha vontade de chorar.
Ellen disse, com voz trêmula:
— Estive durante um minuto sentada na sala. — Os olhos da menina se alargaram. — E vi alguma coisa... Não sei bem o quê, mas era muito rica e me fez ficar triste, também.
— Que história é essa? — perguntou May, empurrando para trás os cabelos grisalhos. Pôs a chaleira no fogão, para ferver água, e pensou que precisava comprar mais chá. Era a única coisa que a reanimava após um longo dia de trabalho.
— Então, não vai contar-me? — perguntou, vendo que Ellen hesitava, de cabeça baixa, os dentes mordendo o lábio inferior.
— Foi apenas um sonho — respondeu a menina, desculpando-se. — E não sei por que me fez ficar... triste e amedrontada. Nunca vi aquilo antes e, no entanto, era eu, embora parecesse mais velha, uma moça de mais ou menos vinte anos. Mas eu me parecia comigo; sei disso. E eu estava olhando por uma janela que tinha manchas como o vidro colorido da porta da casa do prefeito, mas aquela janela não era de vidro colorido. Era clara. E havia pesadas cortinas de seda vermelha com pingentes dourados e franjas e borlas de seda. — Ellen interrompeu-se novamente, como quem se desculpa, mas May empalidecera e estava de boca aberta, olhando quase tolamente para a sobrinha.
A menina continuou, mais depressa:
— Foi apenas um sonho. E eu estava olhando para a parede de tijolinhos da casa e havia treliças com rosas e folhas. Eu podia sentir atrás de mim uma sala grande, maior do que qualquer outra em Preston. Embora eu não pudesse ver a sala, sabia que estava cheia de mobília fina. Havia um lustre grande com pingentes de vidro, caindo do teto, fileiras e fileiras de pingentes, prismas, creio eu, e a sala onde eu estava tinha paredes escuras de madeira envernizada como a mobília; havia muitos livros... Tia May, que é que você tem? — exclamou Ellen, aproximando-se de novo da tia, pois May parecia estupefata, olhando fixamente para a luz fraca do abajur da mesa.
May puxou os cabelos para trás com força e olhou à volta, como se não soubesse onde estava. Tateou à procura de uma cadeira. Sentou-se e, perturbada, fixou o olhar em Ellen.
— Conheci essa sala, há anos. Limpei-a e encerei-a durante anos. E lembro-me da parede da casa, de sua aparência... — Voltou então a si, cruzou as mãos nos joelhos angulosos, umedeceu os lábios e pareceu ver Ellen pela primeira vez. Estava horrorizada. — Como é que você soube da existência dessa sala?... — Sua voz soara alta e aguda, até mesmo apavorada. Ela estendeu a mão, segurou o braço de Ellen e sacudiu-a. — Diga-me, quem lhe contou?
A menina estava apavorada. Procurou livrar-se daquele apertão, que a machucava, mas não o conseguiu.
— Ninguém... me contou — gaguejou ela. — Foi apenas um sonho, um sonho. Você está machucando o meu braço, tia May.
A mulher largou o braço da menina e de repente desatou a chorar, escondendo o rosto nas mãos ásperas.
— Não pode ser — gemeu ela. — Não pode ser. Você nunca viu esse lugar. Somente eu e... Somente eu. Devo ter-lhe falado sobre ele, alguma vez.
— Quando eu era pequena — sugeriu vivamente Ellen, ansiosa por confortar a outra. — Deve ter sido isso.
May balançava-se na cadeira, chorando tristemente, o rosto ainda escondido. Inclinou a cabeça, concordando.
— Deve ter sido isso — gemeu ela. — Só pode ter sido isso. Você nunca esteve lá, nunca esteve lá. — Descobriu o rosto, e as rugas profundas e prematuras estavam úmidas com as lágrimas que escorriam até o queixo e caíam. Ellen nunca vira a tia chorar antes e ficou abalada, com sensação de culpa e de remorso. Colocou a cabeça nos joelhos de May, como um cãozinho que merecesse o maior dos castigos.
Por muito tempo May pôde apenas olhar para a massa de cabelos revoltos sobre seus joelhos. Depois, alisou-os. Ellen soluçava.
— Ora, ora — disse May. — Está tudo bem. Estou apenas muito cansada. Quando fico assim cansada, tudo parece estar errado, ou coisa parecida. — Enxugou os olhos na manga do vestido de algodão. — Agora pare de chorar, está ouvindo? — Procurou dar à voz uma entonação severa, mas não o conseguiu. — Você vai ter que se levantar às cinco, para estar em casa do prefeito às seis, e será um dia longo. Ellen, Ellen?... Escute. Eu disse a eles que você tem catorze anos. Lembre-se disso.
Ellen ergueu a cabeça; seus olhos azuis estavam úmidos. Sentia-se perdoada e uma onda de amor pela tia a invadiu.
— Catorze. Pois bem, não é realmente uma mentira, é? Vou fazer catorze em janeiro e só faltam seis, sete meses. Catorze.
— Isso mesmo. Agora vá para a cama, que a acordarei às cinco. Você vai trabalhar com afinco, será polida e obediente, não é, querida? A Sra. Jardin é uma mulher dura e a Sra. Porter ainda é pior. Você já esteve na cozinha delas algumas vezes e viu-as e elas não lhe deram mais atenção do que se você fosse uma mosca. Mas não se preocupe. Dê duro e ganhe os seus setenta e cinco cents por semana e talvez elas deixem que você tenha uma boa refeição à noite. — May acrescentou, com violência: — Uma boa refeição. Roube-a, se for necessário.
Eles guardam restos para o cão, e você é melhor do que um cão, minha Ellen.
Consolada e feliz por ver que a tia se recuperara do misterioso colapso; Ellen beijou-a afetuosamente e foi para a cama. May ficou ali sentada durante alguns minutos, pensativa.
— Não pode ser — murmurou. — Ela não pode lembrar-se... daquilo. Nem mesmo esteve lá. Só eu e Miss Amy e Mary. Ora, ela nem mesmo tinha nascido! Não nasceu em Filadélfia. Nasceu em Erie!
May sentiu-se tomada por uma antiga dor; seus olhos ficaram de novo cheios de lágrimas e ela inclinou a cabeça, murmurando: “Mary, Mary”. Depois ficou muito amedrontada. Levantou-se, soprou a lamparina e foi para a cama. Permaneceu acordada durante algum tempo, ouvindo o vento e o sussurro das árvores na rua. Havia uma lâmpada a gás lá fora, espargindo no quarto sua luz ocre e estremecendo nas paredes úmidas. May julgou ter visto fantasmas e cobriu a cabeça com o lençol.
Capítulo 3
— Estou de pé há uma hora, desde as cinco, enquanto você ainda estava preguiçosamente na cama — resmungou a Sra. Jardin a Ellen. — Sua tia sabe que o pessoal daqui toma a refeição da manhã às seis, embora os hóspedes só o façam às sete, um hábito ateu e preguiçoso da cidade.
— Amanhã chegarei às cinco e meia — disse Ellen, ainda encabulada e com uma sensação de culpa. — Tia May pensou que a senhora tivesse dito seis horas, Sra. Jardin.
O dia mal clareara lá fora; vistos pela janela da cozinha, os loureiros tinham um reflexo fantasmagórico. Inclinando-se sobre a pia e espiando para o lado esquerdo, Ellen podia ver que o céu a leste era um grande lençol dourado; no horizonte iam surgindo dedos escarlates, longos e finos. Os pássaros já começavam a cantar e seus gritos e chamados eram uma música excitante para seus ouvidos. Ela caminhara por ruas escuras, onde vira apenas alguns trabalhadores, ainda sonolentos. Pelo menos escapara da crueldade zombeteira das crianças.
— Que é que você está olhando pela janela? — perguntou a Sra. Jardin. Seu rosto amarelado adquiriu um ar furtivo. — Você está abatida. Garanto que foi tarde para a cama.
— Mais ou menos às onze e meia — respondeu Ellen, começando a polir as pratas.
— É?... E onde esteve? — perguntou a Sra. Jardin, parando diante do fogão onde a lenha recém-cortada crepitava alegremente.
— Pois bem, peguei no sono, esperando por tia May — respondeu Ellen.
Pensou nos límpidos ventos da madrugada que acabara de sentir, lá fora; pensou na doçura do ar, mesmo nesta aldeia poeirenta à beira do rio; feliz, sorriu para si mesma. A Sra. Jardin notou esse sorriso e assumiu uma expressão irônica.
— Havia alguém com você? — perguntou em tom deliberadamente desinteressado.
Ellen ficou admirada. Virou a cabeça para a Sra. Jardin e respondeu:
— Não. Não há ninguém morando lá em casa, além de nós duas.
— Eu não quis dizer isso. Quis dizer alguma espécie de visita — replicou a Sra. Jardin, piscando para Ellen.
A menina ficou perplexa. Apesar disso, experimentou uma sensação de degradação, um embaraço indefinido.
— Nunca temos visitas, exceto as senhoras que vão procurar tia May para que ela lhes faça algum vestido, ou uma reforma.
A Sra. Jardin inclinou a cabeça significativamente e seu sorriso se tornou ainda mais astuto. Se havia meninas que nasciam com uma tendência para a prostituição, Ellen certamente era uma delas, com aquele cabelo vermelho e rosto atrevido. “Você não me engana, menina”, pensou ela. “Conheço uma pessoa má, quando a vejo, e você é má, completamente má. Provavelmente vai acabar nas ruas de Scranton. Você não dormiu sozinha, a noite passada, e ninguém me convenceria do contrário. Isso, enquanto sua tia (se é que é sua tia e não sua mãe) estava fora, trabalhando.”
A cozinha tinha luz a gás, coisa recente em Preston, e seu brilho era áspero e deprimente. O gás tinha um cheiro desagradável. A luz brilhava nos cabelos de Ellen e em seu perfil que de repente se tornara tristonho, enquanto ela polia os talheres. Eram seis e meia, agora, e o prefeito e sua mulher já tinham feito a refeição da manhã. Dali a meia hora, os hóspedes fariam a deles. Ouviam-se sons de movimentos lá em cima. A casa e a mobília do prefeito eram consideradas “grandiosas” cm Preston, mas para Ellen eram feias. Ela ainda não conhecia o verdadeiro significado da palavra “elegante”; sabia apenas que, grosseiramente, faltava alguma coisa naqueles aposentos grandes, onde havia mobília pesada e escura e cada canto era ocupado por mesas e cadeiras com franjas, estojos ornamentais e vasos cheios de galhos de salgueiros ou plumas de cores berrantes. Havia cortinas em toda parte e não somente nas janelas estreitas. Podiam ser vistas na lareira, com franjas, em geral de um vermelho escuro ou azul-marinho; caíam também do piano de cauda, cobriam as portas. Até mesmo escondiam as costas dos sofás enormes, podendo também ser vistas acima dos espelhos colocados entre as janelas, espelhos que refletiam apenas a mobília e os tapetes caros de tons pálidos, à luz fraca que reinava na casa mesmo nos claros dias de verão. Brilhavam como fantasmas e jamais refletiam o sol. As feias paredes floridas estavam quase que totalmente cobertas por quadros sombrios, embora caros, representando montanhas e mares escuros, veados acuados, ou o rosto tristonho de uma criança tendo nas mãos uma cesta de flores que se assemelhavam a asfódelos — as flores dos mortos.
— A casa do prefeito é um palácio — dizia sempre May.
Quanto a Ellen, embora jamais tivesse visto uma casa realmente bonita, compreendia vagamente que esta era medonha, sem gosto, opressiva. Nunca lhe ocorreu ficar admirada por perceber isso; ela sabia de muitas coisas, sem tê-las conhecido. A casa tinha cheiro de lavanda, de cera, de sabão forte e de umidade; as escadas pareciam assombradas, na escuridão de uma residência onde pouca luz tinha permissão de entrar. Ruídos ocos de origem desconhecida ecoavam constantemente através da casa e aumentavam sua pesada melancolia. De repente Ellen acreditou que não seria capaz de respirar ali, que havia sobre seu peito o peso de alguma coisa que escapava a seu conhecimento. Ela se sentiu triste e amedrontada e desejou poder correr para o ar livre, onde não havia paredes ameaçadoras, nem escadas com polidas balaustradas de cobre, nem vasos de flores secas, nem figuras de porcelana Meissen sob cúpulas de vidro, nem franjas e borlas de seda, nem pesada mobília de mogno manchado e nem, tampouco, grossos tapetes que conservavam a poeira. “Seria terrível morar aqui”, pensou.
Em contraste, a cozinha modesta onde ela residia com a tia era alegre e aberta, apesar de sua pobreza. Embora fosse naturalmente alegre, Ellen se sentia abafada e desesperançada naquela “mansão” e mal podia dominar o covarde desejo de fugir. O relógio grande e preto do hall bateu um quarto para as sete, em tom baixo e grave, e a sensação de melancolia de Ellen aumentou. A janela da cozinha se enchia de sol e a Sra. Jardin apagou o gás.
— Há muitas casas como esta, aqui em Preston, Sra. Jardin? — perguntou a menina.
A cozinheira ergueu a cabeça, vaidosamente.
— Não. Esta é a melhor. Mas a verdade é que a Sra. Porter veio de Scranton e trouxe consigo a mobília da família. As pessoas gostam de vir a esta casa e olhar para tudo. Nunca viram coisa igual.
Ellen não era dada a ironias, mas agora disse de si para si: “Eles têm sorte”. Isso fez com que se sentisse culpada e alegre ao mesmo tempo. Levou um prato de ameixas cozidas e de figos para a sala de jantar, que resolutamente rejeitava qualquer luz do dia ou das estrelas e só vivia com luz de gás, à noite, e meia-luz, de manhã. Tia May chamara aquela sala de “luxuosa”, mas Ellen se contraiu, ao vê-la. As quatro janelas altas e estreitas estavam cobertas por cortinas de veludo azul e de renda quase opaca. Para Ellen, o bufê enorme se assemelhava a um caixão fechado, apesar de todas as bandejas, dos bules e dos açucareiros, das jarras e dos candelabros de prata em cima dele, apesar de todas as naturezas-mortas dependuradas naquela parede. A mesa era uma enorme roda de mogno, coberta por damasco branco, havendo no centro um vaso de prata com rosas e duas fruteiras de prata. Sobre a mesa, dependurava-se um lustre de cristal, imóvel na atmosfera abafada que reinava na casa. Havia um armário de louças que dava a impressão de ameaçar toda a sala com seus montes de porcelanas e de pratas; parecia inclinar-se ligeiramente para o centro, olhando, carrancudo, para a mesa, que tinha à volta cadeiras enormes estofadas de veludo carmesim. Ellen colocou na mesa o prato que trouxera, olhou ao redor e estremeceu. Não sabia o que havia de errado na sala, mas, para ela, era muito mais assustadora do que qualquer pobreza que ela conhecera. “Um dia terei uma casa cheia de mobília bonita e leve, pintada e clara, com tapetes delicados, paredes sorridentes e janelas grandes, cheias de luz”, pensou. Podia ver nitidamente tal sala de jantar, perfumada com flores, as janelas abrindo-se para canteiros grandes e tranquilos. Com isso, sua depressão desapareceu, como se uma brisa perfumada tivesse soprado sobre ela. Voltou para a cozinha com uma expressão confusa, mas alegre.
— Sala bonita, hem? — comentou a Sra. Jardin, orgulhosamente.
A visão da sala de visitas que ela teria um dia apossou-se do pensamento da menina. Ela respondeu, sem hipocrisia:
— Bonita, sim.
Em honra ao primeiro dia em que Ellen ia trabalhar em casa do prefeito, May Watson permitira que ela usasse o vestido de algodão cor-de-rosa reservado para os feriados, assim como um grande avental branco. Achara, para prender os cabelos da sobrinha, uma fita azul que, naqueles vistosos cabelos vermelhos, tinha um ar desafiador. Ellen trouxe uns pratos reluzentes e colocou-os na mesa, assim como os talheres. Ouviu sons na escada da frente e correu para a cozinha.
— Finalmente se levantaram — disse a Sra. Jardin, com ar crítico. — Na metade do dia! — O relógio badalou sete pancadas sonoras. Ela continuou: — A esta hora, muita gente já está trabalhando; o prefeito está no seu escritório e a Sra. Porter já foi fazer compras para a casa. Não sei aonde irá o mundo, hoje em dia!
Tendo as horas de trabalho de Ellen sido mudadas de oito para doze, pela Sra. Porter, e o ordenado aumentado de setenta e cinco cents para um dólar (gesto magnânimo que mereceu a auto-aprovação daquela senhora), a menina tinha direito a duas refeições, em vez de uma. A primeira seria o almoço, às onze, e a segunda, o jantar, às cinco. O desjejum de Ellen constara de uma torrada e de uma xícara de chá, enriquecida com um belo torrão de açúcar que May Watson tirara desta mesma cozinha. A menina, portanto, sentia fome. A Sra. Jardin estava fazendo panquecas e fritando salsichas. Havia na cozinha um cheiro adocicado de melado, misturado a outra fragrância, além do estimulante odor de café. Ellen nunca provara café, e ficou imaginando se a bebida era tão atraente como o cheiro. Havia jarras de creme prontas para irem para a sala de jantar, um prato de costeletas de porco e batatas coradas, um de apetitosos ovos fritos, uma cestinha de pãezinhos frescos, vários tipos de geleia em potes de cristal e uma travessa oval de peixe quente.
— Só dois senhores vão comer tudo isso? — perguntou Ellen, com água na boca.
— Por que não? Eles são sadios, não são? Se bem que o Sr. Francis tenha apanhado maleita na guerra. — Ellen olhou, desejosa, para as salsichas e para os outros comestíveis. Notando isso, a Sra. Jardin disse: — Seja cuidadosa e, se não houver queixas, você poderá comer os restos dos pratos deles, embora eu a previna de que não sobrará muita coisa. Você, na realidade, não tem direito a nada, a não ser alguma coisa às onze e depois às cinco... nada de café da manhã. Mas, se trabalhar direito, poderá ter os restos e até mesmo uma xícara de café. Não diga uma palavra para a Sra. Porter. Ela quer que eu guarde os restos para Fido, que está no canil, nos fundos da casa.
Ellen sentiu-se grata, apesar de ter tido um arrepio ao pensar em comer os restos de outras pessoas. Embora ela e a tia fossem paupérrimas, estando, portanto, sempre com fome, nenhuma jamais comera os restos da outra, nem mesmo as últimas migalhas. Apesar disso, o cheiro que havia na cozinha e a exibição de um tipo de comida que ela nunca vira antes lhe despertavam um desejo incontrolável.
— De qualquer maneira, Fido está gordo demais — terminou a Sra. Jardin, congratulando-se por seu gesto caridoso.
Colocou alguns dos pratos numa bandeja de prata e fez sinal a Ellen para que os levasse para a sala de jantar, acompanhando-a para dar-lhe a primeira lição de como deveria servi-los. Os dois senhores estavam justamente entrando pela porta de cortinas de veludo. Walter Porter disse, alegremente:
— Bom dia, Sra. Jardin. Bela manhã, não?
— Muito bonita, Sr. Porter — concordou a Sra. Jardin, lançando ao homem mais velho seu mais petulante e mais confiante sorriso. (Ele sempre lhe dava uma bela gorjeta quando partia, ao contrário do Sr. Francis, um coitado, tão magro e de aparência tão “desbotada”. Esperançosa, entretanto, de maneira maternal ela o incitava a comer bastante. “Isto lhe fará bem, Sr. Francis!”)
Esperando, polidamente, que o pai se sentasse primeiro, Francis de repente viu Ellen, que estendia os braços compridos e jovens para colocar tudo direitinho na mesa, conforme a Sra. Jardin lhe ensinara naquela manhã. Estacou no momento de sentar-se e tanto ele quanto o pai olharam para Ellen com agradável surpresa. Ela não lhes notou o olhar, mas a Sra. Jardin, que via tudo, percebeu a reação dos homens e seu rosto se animou de novo, cheio de curiosidade.
— Esta aqui é Ellen Watson, a nova criada, Sr. Walter
— disse a cozinheira. — Se não lhes agradar, é só falarem comigo. Ela é nova e sem prática, e estou procurando ser paciente, para treiná-la.
— Claro. Ótimo — murmurou Walter Porter, sacudindo o guardanapo branco, grande e quadrado. — Tenho certeza de que se sairá muito bem, não é mesmo, Ellen?
A menina corou ao ver um senhor tão distinto dirigir-se diretamente a ela e não conseguiu responder imediatamente. A Sra. Jardin deu-lhe uma cotovelada. A menina quase deixou cair o prato, mas respondeu, com voz trêmula:
— Sim, senhor. Obrigada, senhor.
“Que voz bonita”, pensou Francis. “Que menina bonita. Ela é como fogo nesta sala horrível, sempre fria e úmida.” De repente ficou sem respiração. Quando Ellen lhe apresentou as panquecas e as salsichas, ele apenas pôde, por um ou dois minutos, olhar para aquele rosto maravilhoso e ver os grandes olhos azuis, tão brilhantes e tão tímidos. A Sra. Jardin observava atentamente não apenas a mesa, mas também o rapaz. Ficou alegre. Mais um escândalo naquela casa, a não ser que se tivesse cautela. Mas que poderia ele ver naquela menina feia, desajeitada e com mãos tão ásperas? Uma estouvada e também uma rapariga de má reputação, conforme se exprimia o padre. Diferente de Amelia Beale, que era uma verdadeira dama, embora pobre.
“Não é possível que uma pessoa seja tão bonita”, pensava Francis, finalmente desviando o olhar de Ellen. “Um rosto nobre, o rosto de uma aristocrata, com um encanto incrível. E que olhos! Como os de um recém-nascido, límpidos e brilhantes.” Francis era um rapaz sem vitalidade, em parte por natureza e em parte devido à maleita que contraíra um ano antes, na guerra da Espanha. Mas agora a languidez desaparecera e ele se sentia com vida, emocionado e até mesmo alegre. Desejava tocar em Ellen, como um homem que tem calafrios deseja sair da sombra para o sol quente.
A Sra. Jardin dava ordens a Ellen, baixinho, e a menina obedecia com uma confusão apressada e um desejo desesperado de não ser repreendida. Se ela se comportasse direito, teria licença de comer os restos daquele banquete; forçava-se a engolir em seco, para não abrir completamente a boca. Francis notou os espasmos no pescoço branco e pensou, admirado: “Ora, a pobre menina está com fome”. Então sentiu compaixão, uma tão grande compaixão que surgiram lágrimas em seus olhos.
“Ela não pode ter mais de catorze anos; esse rosto é muito imaturo. Que beleza será dentro de alguns anos, se é que tal beleza pode aumentar com a maturidade!”
Walter Porter lançava a Ellen olhares rápidos. Quando ela lhe apresentou um prato, ele sorriu bondosamente.
— Você veio de Filadélfia, Ellen? — perguntou, muito perturbado pela menina que se parecia tanto com o retrato da casa de Widdimer. Seria possível que houvesse uma conexão qualquer, embora parecesse improvável? “Talvez do lado errado da cerca”, disse ele de si para si, sorrindo novamente.
— Não, senhor — respondeu a menina quase num murmúrio, enchendo a xícara de Walter Porter com grande cuidado, pois suas mãos tremiam. — Nasci em Erie. Nunca estive em Filadélfia.
— Não tem parentes lá, minha menina?
— Não, senhor. Nenhum. Tia May... minha tia... também nasceu em Erie e nunca esteve em Filadélfia.
De novo ofegante, Francis falou pela primeira vez:
— Seus pais estão vivos, Ellen?
Agora de mãos vazias, a menina ficou tesa, escondendo as mãos no avental. Relanceou o olhar para os olhos cândidos de Francis e viu neles apenas uma ternura que não sabia interpretar. Sabia apenas que o rapaz não era hostil e teve vontade de chorar de gratidão. Ele era tão bom! Era a melhor pessoa que ela conhecera na vida. Quem mais se importava com os pais dela, ou desejava saber a respeito deles? Ellen engoliu em seco, nervosamente, e esqueceu-se de sua fome.
— Não, senhor. Minha mãe e meu pai morreram. Papai era de Nova York e mamãe de Erie. Ambos morreram quando eu tinha dois anos. Foi o que tia May me contou. Ela é irmã de mamãe.
Ellen nunca falara tão livremente com ninguém e certamente jamais com estranhos. Sua tia sempre a estava prevenindo, com ar misterioso, de que não falasse com estranhos e nunca lhes respondesse, mas não havia mal nisso, havia? De novo ela sentiu uma onda de timidez e seu rubor aumentou. Queria ao mesmo tempo fugir e ficar na presença daquele homem que a encarava com tão franca suavidade e interesse, como se a visse de um modo que os outros nunca a tinham visto.
O Sr. Porter disse, então:
— Você já ouviu os nomes Sheldon e Widdimer, Ellen?
A menina sacudiu a cabeça e respondeu:
— Não, senhor. Nunca.
— Inacreditável — observou Walter, sacudindo a cabeça de leve.
Ellen deu um passo para trás, sentindo-se de novo desamparada e confusa. A Sra. Jardin os observava da porta da cozinha, seus olhos piscando rapidamente à medida que iam de uma pessoa a outra. Depois ela disse, em tom autoritário:
— Ellen, traga café fresco e torta de morangos para os senhores.
Ellen não andou, correu para a cozinha. A Sra. Jardin, sentindo-se numa posição privilegiada, dirigiu-se a Walter Porter:
— Ellen vai acertar, creio eu, quando estiver treinada. Ainda está crua. É seu primeiro dia aqui, ou em qualquer emprego, uma menina desse tamanho! Ela deveria ter começado n trabalhar há quatro anos, aprendendo a conhecer seu lugar e a ser útil. Mas as coisas estão mudando, senhor, e não para melhor. A lei aqui não permite que uma pequena se empregue antes de completar catorze anos, e isso é um escândalo. Estamos criando uma geração inútil, não estamos? Ellen devia estar trabalhando numa fábrica.
Walter olhou de relance para o filho, mas Francis largara o talher e começara a falar.
— Acho que é um escândalo mandar moças muito jovens para uma fábrica, Sra. Jardin. — Sua voz tinha um tom preciso e quase dogmático. — Graças a Deus esta nação está começando a compreender isso e encaminhou uma lei na direção certa. Pertenço a um comitê...
— Quer fazer o favor de me passar os bolinhos, Francis? disse o pai do rapaz. — E guarde as preleções para seus professores, em Harvard. Tenho certeza de que a Sra. Jardin não está interessada nas suas opiniões. Pelo menos no que diz respeito ao trabalho das crianças.
A Sra. Jardin dirigiu ao homem mais velho um sorriso torto e sabido. Mas Francis, de rosto animado devido ao seu assunto favorito, não permitiu que o detivessem.
— Quando eu me formar em direito, papai, vou entrar para a política, por mais que ela me enoje.
— Sim, foi o que já disse — replicou o pai, divertindo-se imensamente. — Mas acho que o mau cheiro o afastará, apesar de suas convicções. Sabe, conheço os políticos de um jeito que você não conhece, meu rapaz. Ah, está certo. Tenha os seus sonhos. Você é moço e ainda intocado, apesar de ter estado numa guerra.
— O que foi uma estupidez — declarou Francis, com um brilho colérico no olhar.
— Você não parecia pensar assim quando se alistou nos Rough Riders de Teddy.
— Pois bem, penso agora. E você conhece minhas razões para pensar assim.
— Tudo imaginação — disse o pai, fazendo um gesto com a mão gorda. — Foi uma guerra justa. Pelo menos foi o que Teddy disse.
— Para conquistar as Filipinas e Cuba — comentou Francis.
— E começar o “imperialismo americano”, citando você, Francis.
— Certamente. Estamos agora entrando na Era dos Tiranos.
O Sr. Porter reclinou-se na cadeira, sorrindo largamente e fechando os olhos.
— Não sei de onde tirou essas ideias!
— Lendo, o que você não faz, papai. E conhecendo a história.
— Pois bem, nunca fui um estudioso, nem mesmo na universidade — replicou Walter, ainda bem-humorado. Ergueu a mão, defendendo-se. — Por favor, meu caro rapaz, não me aborreça. Está um dia bonito. Vamos andar a cavalo. Você ainda não está bom, sabe? Quando recuperar totalmente a saúde, recuperará...
— Meu juízo, também.
— Ora, ora, meu rapaz. Ah, aqui temos café fresco e torta de morangos. Ótima refeição, Sra. Jardin. Você está nos estragando.
— Eu ficaria satisfeita se o Sr. Francis comesse mais — replicou a cozinheira, com as mãos confortavelmente debaixo do avental, lançando a Francis um olhar hipocritamente afetuoso. — Só o que ele comeu foram algumas salsichas, um prato de ameixas e de figos, dois ovos, uma ou duas fatias de toucinho, um pedacinho de peixe, um pouco de batata, quatro pedaços de bolo de tabuleiro, duas xícaras de café e um pedaço minúsculo de torta. Isso não é desjejum para um homem, senhor.
— É o suficiente para quatro desjejuns... para quatro homens — replicou Francis, que não gostava da Sra. Jardin e não se iludia com seu ar brincalhão e suas piscadelas. Queria acreditar (para ele acreditar era uma necessidade) que a “classe trabalhadora ” era dotada de uma nobreza natural, de virtude, de sabedoria e que era explorada. Em todo o caso, sua percepção frequentemente refutava essa teoria, e a Sra. Jardin era nina das pessoas que a contradizia só pelo fato de existir. Por esse motivo, Francis imediatamente antipatizara com ela. A mulher era uma afronta a seu forte idealismo, um idealismo que linha que ser total e nunca condicionado pelos fatos. Ultimamente ele havia começado a acusar-se de falta de caridade, ou de compreensão, e de não conseguir “ver com suficiente profundidade e apreender fatores ocultos”.
Certa vez, seu pai lhe dissera:
— Claro que há um monte de injustiças neste mundo. Mas quem disse que este mundo deve ser perfeito? Somente um idiota acreditaria na perfeição do homem e numa utopia onde sempre seria verão e onde ninguém trabalharia muito e onde, ao contrário, todos vagueariam por um jardim incorruptível. Quem tiraria o lixo, varreria as ruas e semearia? Enquanto tivermos um corpo e houver poeira no ar e precisarmos comer para viver, teremos que trabalhar. São Paulo não disse: “Aquele que não trabalhar não comerá”? Sim, foi ele.
— A ciência já está profetizando que logo não será necessário o homem trabalhar — respondera Francis, corando violentamente, como sempre quando suas teorias eram refutadas. — Nesse meio tempo, o trabalhador não deve ser explorado; deve ganhar o suficiente para viver.
— Concordo com isso — disse Walter Porter. — Pago bem meus homens, muito mais do que os novos sindicatos estão pedindo. Mas o homem nunca se verá livre do trabalho. A bíblia não diz que o homem precisa ganhar o pão com o suor de seu rosto? Sim, diz. Meu rapaz, estamos num mundo realista, baseado em verdades objetivas, e nenhum sonho o modificará. Mas os sonhos podem destruir, tanto quanto construir. Lembre-se disso.
— Não há verdades objetivas — replicou Francis, com veemência. — Tudo c subjetivo.
— Então, vamos ter fábricas, navios, colheitas e comércio imaginários, ou Deus sabe lá o quê — disse o pai, exasperado. — Desse modo deixaremos o homem voltar a um estado de selvageria, pois o mundo não é apenas subjetivo (aos olhos dos homens) como também brutalmente objetivo.
Walter ficara alarmado após essa conversa. Francis era seu único filho. O pai esperava muito dele. Sabia que o rapaz tinha uma cabeça excelente e tivera uma educação sólida. Onde teria adquirido aquelas ideias novas e perigosas que andava expondo ultimamente? Será que a guerra o marcara? Milhares de rapazes tinham participado daquela guerra com entusiasmo — como acontecera com Francis a princípio — e tinham voltado ao estudo ou ao trabalho de maneira normal, embora muitos tivessem contraído maleita, como Francis contraíra. Haveria na natureza dele uma maldita falha que exigia perfeição em tudo, no comportamento humano, nas próprias leis da natureza? Fora somente nos últimos anos que o pai se convencera de que pessoas como Francis eram prejudiciais a todos os homens, pois criavam a instável atmosfera de sonho nos negócios da humanidade, em vez de força, de realismo. Muitas vezes Walter refletira sobre o dever de lidar com as coisas como são e não como desejaríamos que fossem. “Não sou contra os sonhos, quando possíveis, e Deus sabe que sem os sonhadores não teríamos poesia, nem justiça, nem Constituição, nem ordem, nem civilização. Somente quando os sonhos deixam o reino da probabilidade, ou mesmo do possível, é que somos ameaçados. Quando os sonhos excluem a falível natureza humana é que estamos em perigo. A natureza não é mutável, apesar do que dizem certos filósofos fantasistas.”
Ele tentara, inúmeras vezes, transmitir seus pensamentos a Francis, mas o rapaz estava se tornando cada vez mais resistente. Pior ainda, caía num silêncio taciturno quando seus sonhos encontravam as arestas do realismo. Como um homem que acreditava no subjetivo, confiava veementemente em que a própria realidade poderia ser mudada. Não censurava suas teorias falhas; censurava a realidade. Tinha agora desconfiança da própria natureza.
“Há neste mundo muito lugar para os sonhadores, se os homens forem dignos de crédito”, era o que pensava Walter. Havia também espaço para os realistas. “Precisamos ter uma mistura dos dois — se isso for possível! — e trabalhar juntos. O único perigo no mundo está naqueles que acreditam apenas em sonhos e naqueles que acreditam apenas na crua realidade. Ambos são dogmáticos e, se não tivermos cautela, seremos por eles destruídos. Precisamos concordar, todos nós, em que o homem é mais do que um animal, mas é também um animal e tem apetites que abrangem o terreno espiritual, embora precise ser alimentado e abrigado como qualquer outro animal. Detesto as pessoas que não transigem!”
Em outra ocasião, ele dissera ao filho:
— Quando Deus se tornou homem, teve que obedecer a Suas próprias leis: evacuar, urinar, coçar-se, sentir dor, ter as tentações da carne, como dizem os padres, sentir fome, trabalhar, transpirar, ter mãos e rosto sujos, ter necessidade de se lavar, de dormir, de trocar Suas roupas, de coçar Seus pés. Ele não suspendeu as leis da existência para ficar mais confortável no ambiente existente. Temos que aceitar as condições humanas como Ele as aceitou, com todas as misérias, desconfortos, queixas, mordidas de insetos e labutas. Sendo homem, tanto quanto Deus, Ele ficou aborrecido com Sua mãe quando ela lhe pediu que realizasse o milagre do vinho nas bodas de Canaã. Uma coisa pequena, mas Ele ficou aborrecido. Há um profundo significado nisso: não podemos escapar a nossa condição humana. Conseguimos apenas controlá-la até certo ponto, mas não podemos obliterar nossa natureza e a fragilidade de nossa natureza. Podemos apenas sentir compaixão — quando ela é merecida. E ter um senso de humor, do qual você carece, meu rapaz. O humor torna a vida tolerável. Não há menção dele na Bíblia, mas tenho certeza de que Deus ria frequentemente e pilheriava e contava histórias interessantes. Afinal de contas, como ser humano Ele era judeu, e os judeus são famosos por suas pilhérias.
Francis não acreditava em nenhuma divindade e não acreditava em Cristo, mas alguma coisa nele se ofendeu com as palavras do pai. Aquilo ameaçava sua concepção da sombria perfeição do homem. Certa vez dissera, intencionalmente, ao pai:
— Há um novo espírito nascendo no mundo.
— Se for o que acho que é, então que Deus tenha piedade de nossas almas! — replicara Walter.
Em outra ocasião, a fim de se conciliar com seu querido filho, Walter dissera:
— Meu rapaz, há suficiente espaço para nós dois neste mundo.
Olhara com ar súplice para Francis, mas este fechara a cara, comprimira os lábios e não respondera.
Com crescente exaspero, portanto, Walter começara a opor-se a todas as ideias de Francis, embora no íntimo achasse que algumas eram válidas. “Pessoas como o meu filho”, pensava ele, “poderiam destruir teorias válidas e põem homens como eu teimosamente contra o que sabemos ser bom. Isso é desastroso para todo mundo.”
Naquele dia, por insistência do pai, Francis concordara em sair com ele para um passeio pelo campo. O rapaz não se interessava por fazendas e campos, nem pela exuberância da natureza expressa por flores, frutos e sementes. Atualmente era um homem da cidade, o que Walter lamentava. Havia excesso de homens urbanos, no presente, pensava o pai. Estes se sentiam entediados com o óbvio; achavam que o trabalho diminuía as pessoas. Pior ainda, consideravam-no desnecessário, uma afronta ao que qualificavam de “dignidade do homem”. Pai e filho, ainda mais, estavam achando o diálogo entre eles — uma conversa sincera e autorreveladora — impossível. Francis culpava o pai. Walter era “velho”. Não tinha nenhuma concepção do “novo mundo”. Por seu lado, Walter achava que as ideias do filho se assemelhavam a um prato de mingau de aveia que azedara prematuramente, além de ser venenoso. Walter pensava: “Ah, está certo. Quando ficar mais velho, Francis descobrirá que há leis para conter sonhos impossíveis, as leis de Deus e da natureza. A única ideia magnífica é a infinita misericórdia de Deus — e bem que precisamos dela hoje em dia!”
Na cozinha, a Sra. Jardin disse a Ellen:
— Agora vamos para cima, fazer as camas. A patroa faz a dela, mas há mais três. Aqui estão o espanador, o pano de pó, a vassoura e o balde. Não fique olhando para eles. Você sabe para que servem, não sabe?
Ellen tivera licença para comer os restos do prato de Francis. Devorara-os, apreciando cada migalha. Ganhara uma xícara de café, que achara delicioso. Estava satisfeita; estava também com sono, embora só fossem oito horas da manhã.
— Se você não farreasse a noite toda e se comportasse como cristã, não estaria com tanto sono — disse a Sra. Jardin, severamente.
Como não podia compreender isso, Ellen apenas acompanhou a Sra. Jardin, em silêncio, até o andar de cima. A Sra. Jardin era perfeccionista com todo mundo, menos consigo mesma, e isso, ironicamente, teria interessado Walter Porter.
Os inúmeros aposentos de cima eram tão vastos quanto os de baixo, mas os móveis escuros e pesados atravancavam-nos de tal forma que davam a impressão de ter sido atirados juntos num espaço pequeno, uns em cima dos outros. Assim como no andar inferior, a luz era fraca, o ar abafado. Todas as janelas linham forros de seda cinza, cortinas de renda e drapeados de veludo azul-marinho. As venezianas estavam semicerradas. Mas, aqui e ali, um raio de sol entrava pela fresta de uma janela e riscava um tapete, ou um raio mais longo fazia com que a aresta de um móvel de mogno brilhasse. Além de camas com colunas e dosséis, havia armários entalhados lugubremente fechados e (rançados, penteadeiras, cômodas, cadeiras, sofazinhos, tamboretes, sobre os quais se viam vasos chineses, onde plantas anêmicas lutavam para sobreviver, e espelhos funéreos. Em cada aposento havia um cheiro poeirento de lavanda, ou de cravo, ou de rosas mortas.
— Uma riqueza, não? — disse a Sra. Jardin, olhando à volta enquanto Ellen trabalhava.
O rosto da menina estava transpirando. Ela lambeu uma gota à volta da boca. “Acho horrível”, pensou, com sua rebelião recém-adquirida. Assim sendo, fingiu não ter ouvido a complacente observação da Sra. Jardin e continuou tirando o pó e varrendo com febril rapidez. Pela primeira vez na vida, viu um banheiro e ficou sinceramente admirada com todo aquele mármore e brancura e cobre polido e torneiras. Apesar disso, pareceu-lhe que não era higiênico haver privadas dentro de casa, e ela respirou o mais levemente possível. Nada sabia sobre o Pilgrim’s progress de Bunyan ou sobre seu “Pantanal do Desespero”, mas viu-se presa em algo que lhe sombreava a alma e a aterrorizava.
Foi mandada para o porão para passar roupa. O ar ali, embora completamente parado, era mais fresco do que no andar de cima. Havia pilhas de camisas de homem, úmidas, em cestas; inúmeros lençóis, fronhas com babados de renda, peças discretas de roupas de baixo femininas, guardanapos, toalhas e centros de mesa, montes de meias, assim como anáguas, saiotes, aventais, vestidos de algodão, roupões e ceroulas de homem. Os Cerros de engomar estavam sobre uma chapa quente, a primeira que Ellen jamais vira. Ellen não se importava com o cheiro, grata por notar que a placa não aquecia o aposento, como teria acontecido com um fogão a lenha. Mas o gás a enlanguescia e a enjoava um pouco, dando-lhe dor de cabeça. As horas passaram sonolentamente. Sim, pois a menina se entregava a seus sonhos habituais de vastos gramados ao pôr-do-sol, com longas sombras douradas sobre a grama e roseiras, sonhos de casas brancas com vidraças reluzentes, telhados altos e trepadeiras verdes, sonhos de música e de paz e, em algum lugar, ela própria com um vestido ramado, caminhando serenamente pelo silêncio perfumado, com uma flor na mão. E esperando. Mas não sabia o quê ou quem esperava.
— Ainda não acabou? — perguntou a voz infantil e estridente da Sra. Jardin, falando de cima da escada. — São quatro horas. Preciso de sua ajuda na cozinha.
Ellen voltou a si. Acabou de passar um lenço. O porão tinha agora não somente um cheiro de gás, como de cera. Ela ficou admirada por descobrir que passara toda a roupa, pois trabalhara automaticamente. Subiu correndo a escada e anunciou que as cestas de roupa estavam cheias. Carregou uma, ofegante, devido ao peso. A Sra. Jardin estava cética. Examinou com ar crítico as peças na cesta e disse, a contragosto:
— Pois bem, você faz alguma coisa direito, afinal de contas. Eu não teria acreditado nisso, em se tratando de uma pequena doidivanas como você.
Ellen recebeu ordem de começar a preparar o jantar, que seria servido às cinco e meia, pois era dia de semana. Agora ela percebia o ardor de seus olhos, o pulsar dos braços e um peso nas pernas. Seus cabelos brilhavam à volta do rosto, que perdera a cor rosada e se tornara pálido de exaustão. Mas não estava com fome. A sensação de náusea perdurava.
— Você está toda suada e não pode ir à sala de jantar hoje à noite com essa aparência e cheirando desse jeito — disse a Sra. Jardin. — É melhor pôr um vestido limpo amanhã!
O vestido de algodão rosa estava manchado de transpiração, teias de aranha e pó. Ellen olhou para ele, consternada. Só queria deitar-se e dormir num lugar escuro, e agora via que teria que lavar e passar o vestido quando chegasse a casa, à noite.
Recusou os restos de comida. O cheiro de rosbife a enjoava e quando sentiu o odor de cebolas assadas e de torta de maçãs, quente, teve que cerrar os dentes para não vomitar. Apesar disso, escondeu no bolso do avental uma fatiazinha de torta e alguns pedacinhos de toucinho e de carne e um ou dois pãezinhos, para levar para a tia quando voltasse para casa. Uma sensação constrangedora se apossou dela devido a esse roubo, coisa que nunca antes sentira.
Quando saiu, pouco antes das sete horas, as ruas estavam cheias de gente, como de costume. Naquele dia ela não correu; não parou para olhar as montanhas distantes que adquiriam um tom nebuloso e purpúreo, nem ficou fascinada pela bola de fogo que era o sol. Caminhou devagar, de cabeça baixa, penosamente colocando um pé diante do outro, não ouvindo as piadas habituais e nem os assobios obscenos. Seu cabelo parecia seda cor de cobre à volta do rosto; os lábios não tinham cor. Os pés não eram de carne; eram de metal fundido, e cada passo dado era uma agonia.
May Watson costurava aplicadamente na sala, a máquina de pedal rangendo e protestando. O aposento estava em semi-obscuridade, pois o querosene custava caro. Ela ergueu os olhos, assustando-se quando viu Ellen, e piscou.
— Eles a despediram, Ellen? — exclamou. — Você deve-i ia trabalhar até as dez!
Ellen apoiou-se no sofá e disse, com voz tão fraca que May mal podia ouvi-la:
— Não, titia. A Sra. Porter disse das seis às sete, e ela vai me dar um dólar por semana e não apenas setenta e cinco cents.
May estava atordoada com tanta magnanimidade por parte da mulher que ela desprezava e reverenciava ao mesmo tempo. Piscou vivamente e depois esfregou os olhos cansados.
— Muito bem, então! Você precisa demonstrar sua gratidão, Ellen! Volte imediatamente para lá e trabalhe até às dez. Você não deixou que a Sra. Jardin terminasse o serviço sozinha, não é? — perguntou May, chocada e alarmada.
Ellen fechou os olhos, sentindo um grande desespero.
— Não. Já tínhamos terminado tudo. A Sra. Jardin... ficou satisfeita. Disse que sou melhor do que Alice, que trabalhei depressa e que merecia ganhar um dólar. Oh, tia May! Não posso voltar hoje à noite, mesmo que eles precisassem de mim. Sinto-me... mal. Só quero deitar-me nalgum lugar.
May olhou para a sobrinha, e seu senso do que era “direi-lo” lutou com a piedade.
— Você está de fato abatida. É porque ficou de pé, conversando, na noite passada. — Outro pensamento lhe ocorreu.
Você jantou? Foi o que ficou combinado.
Ellen murmurou:
— Sim, e lhe trouxe uma coisa, como você faz comigo. Está na cozinha.
Ellen olhou para seu vestido. May deixou escapar uma exclamação.
— Como é que ficou tão suja e molhada? Você é uma descuidada, Ellen. Agora precisa lavar e passar o vestido, para usá-lo amanhã.
— Por favor — pediu a menina. — Deixe-me usar o azul, amanhã. Eu... Tia May... Não posso mais ficar de pé. Tenho que me deitar.
— Uma meninona como você! Espere até ter a minha idade. Pois bem, vá.
Tonta de cansaço, Ellen saiu da sala devagar e com esforço, indo para o seu quarto mal arejado. Tirou as roupas sem o cuidado habitual e enfiou a camisola amassada. Caiu na cama e imediatamente pegou no sono, encolhida como um cãozinho.
Duas horas mais tarde, May apagou a lâmpada da cozinha e, também exausta, dirigiu-se para seu quarto. Mas parou diante da porta de Ellen. A luz do distante lampião de rua atravessava a soleira e May viu o vulto encolhido na cama. Havia algo de infinitamente patético no contorno amorfo do corpo da menina. Com olhos úmidos, May disse de si para si: “Oh, Ellen, Ellen! ”
Pela janela aberta de seu quarto, May viu a lua, uma aranha branca e gorda presa na teia de nuvens móveis; agora não era somente seu corpo que doía, e sim também sua alma.
Capítulo 4
Jeremy, filho do prefeito, voltou nesse dia de sua visita à jovem na qual estava interessado. Rapaz cheio de vida, estudando administração de empresas em Harvard, era ao mesmo tempo sensual e cauteloso, viril sem alarde, inteligente e cínico, pragmático e exigente. Sob uma aparência brusca e desligada, escondia um formidável intelecto. Não queria saber dos tolos, dos sentimentais ou dos oportunistas. Detestava especialmente os melosos, os eternos sorridentes, os que usavam chavões, os medíocres. Não tinha amor nem piedade pelo “povo”, onde estavam incluídos, em seu julgamento cruel, seus próprios pais. Preston, aldeia de mais ou menos cinco mil “patetas”, o deixava consternado. A casa de seus pais o revoltava; a maneira de viver deles provocava sua execração. O prefeito sempre considerara seu filho “difícil”. A Sra. Porter o adorava, embora ele muitas vezes a surpreendesse com o que ela chamava de “observações cruas”. Dizia:
— Não são bonitas, sabe, querido.
— Nada é “bonito” neste mundo, mamãe — dizia Jeremy. — Ele é governado pela lei da selva. “A corrida para os velozes, a batalha para os fortes.” Não pretendo ser um dos fracos. Se não tivermos cuidado, os fracos nos devorarão: o corpo, a substância e o país, deixando apenas os ossos. Eles têm um tal apetite!
— Você aprenderá — observava ela. — Afinal de contas, querido, só tem vinte e três anos. É apenas um menino.
Ela não sabia que seu filho nunca fora “apenas um menino”, nem mesmo na infância.
Certa vez ele escrevera a um amigo: “Neste mundo há apenas dois tipos de pessoas: as crianças perpétuas, que são um perigo terrível para a civilização, e aqueles que nasceram adultos. Quando as ‘crianças’ se apoderarem deste país e os adultos forem minoria, será o fim de nossa pátria. Conheci adultos que pareciam ter dez anos de idade e crianças que tinham setenta e sete. Um destes dias, teremos que encarar o fato de que os homens não nascem com inteligência igual — o que é o único padrão para a humanidade — e agiremos de acordo com isso, ou pereceremos numa onda de sentimentalismo e irmandade; aquilo que os fundadores da República estabeleceram será destruído para sempre. A América precisa de homens, não de quem faz pipi nas fraldas, seja qual for a sua idade”.
Jeremy era um ardente advogado da teoria malthusiana.
Certa vez, um professor — que Walter Porter chamara de “mariquinhas” — dissera-lhe:
— Devemos ter compaixão dos fracos e ajudá-los.
— Creio que nossas semânticas não se encontram — observara Jeremy. — Se o senhor se refere aos persistentemente pobres, que nada fazem para subir na vida e não lutam a não ser quando se veem ameaçados de morrer de fome, e não têm nenhuma inteligência, e são determinantemente estúpidos, chorosos e mentirosos, então eu digo: “Deixem que eles morram e a qualidade de nossa população melhorará”. Em todo caso, se o senhor estiver aludindo aos inteligentes que nasceram pobres, então devemos, de fato, ter um pouco de compaixão deles, embora sejam bastante orgulhosos para rejeitar colericamente a compaixão. Devemos ajudá-los de uma maneira que eles jamais cheguem a descobrir... pois é deles que depende o futuro de nossa pátria.
Para Jeremy, sua mãe era o protótipo de um “novo espírito” na América: os ricos que lamentam o “dilema” dos pobres, por suas próprias razões sinistras, ou para elevar-se na estima do próximo. Agnes Porter não era suficientemente inteligente para estar no primeiro grupo, do qual Jeremy tinha uma negra desconfiança, de modo que pertencia à segunda categoria, cujos membros o rapaz chamava de simplórios, não tão perigosos quanto os primeiros, mas com algum poder. Ambas as categorias exploravam “os pobres”; uma por motivos políticos, a outra para obter a aprovação pública, principalmente a religiosa e a social. Jeremy pensava: “Se alguém for o assassino dos desamparados, são estes os culpados”.
Lera atentamente todas as obras de Karl Marx e de Engels e era um grande estudioso da Revolução Francesa, que destruíra a França como um princípio civilizador no mundo. Despertara uma furtiva ironia nos professores, devido ao que estes consideravam nele uma “incoerência”. Jeremy falava com desprezo dos imensamente ricos: “Eles têm apenas a astúcia e a avidez de uma doninha”. Referia-se com igual desprezo aos fracos que dependiam de caridade para subsistir. “Deixemos que se devorem uns aos outros, mas não a nós”, dizia. “Quando ambos, irmãos na voracidade, devorarem nossa carne, a América cairá no longo crepúsculo da bancarrota, na escravidão e no desespero. Esses irmãos monstruosos encontrarão, de algum modo, um jeito de nos empurrar para o esquecimento e para os grilhões. Pensam todos da mesma forma. Mas tenha certeza de que eles não serão acusados!”
Acima de tudo, detestava os políticos. Não se alistara na guerra contra a Espanha, mas não pelas razões que seu primo Francis prezava. Achava que as guerras, a não ser em defesa própria, eram atrozes, embora fosse, por natureza, um lutador.
Às vezes o complacente prefeito achava, constrangido, que gerara um ursinho tortuoso e agressivo. Não compreendia absolutamente o que Jeremy afirmava. Podia apenas pensar que o filho era “moço” e, portanto, veemente demais. Certa vez dissera a Jeremy, em tom grave e piedoso:
— Você deve lembrar-se do que Cristo disse do “menor de seus irmãos” e lembrar-se também de que devemos ajudá-los.
Jeremy encarara o pai com ar irônico e incrédulo. Se havia alguém pouco interessado nos “irmãos”, este alguém era Edgar Porter, que tratava seus criados e seus funcionários com desprezo, altivez e antipatia e era implacável e mesquinho em suas exigências em relação a eles.
Jeremy dissera, então:
— Deus também condenou a cigarra preguiçosa que nada fez a não ser cantar, dançar e comer durante todo o verão, ao passo que a diligente formiga trabalhava e se preparava para o inverno. “Vá procurar sua vizinha, preguiçosa”, disse Ele. Pois bem, a Bíblia não é incoerente. Deus permitiu que a alegre cigarra morresse queixando-se de que a sorte lhe fora injusta.
Jeremy achava Preston incrivelmente cacete, e seus pais mais ainda. Mas, como rapaz consciencioso, sentia que era seu dever aguentar os pais durante algumas semanas, nas férias. Apesar disso, mesmo então achava absolutamente necessário, de vez em quando, ir para Nova York, Filadélfia, Boston, ou até mesmo Pittsburgh. Lá encontrava homens iguais a ele, que pensavam da mesma maneira e já começavam a expressar medo pela pátria e pelo futuro que a esperava. “O novo populismo”, diziam eles, olhando para William Jennings Bryan com um desprezo não isento de medo. “Ele irá embora e suas ideias irão com ele”, haviam dito a Jeremy. Mas o rapaz sacudira a cabeça. “ Lembrem-se de que não estamos sós neste mundo ignorante. A Escandinávia e, até certo ponto, a França e a Alemanha adotaram muitas das ideias de Karl Marx.”
Quando fizera vinte e um anos, Jeremy herdara uma boa fortuna de sua avó materna. Com ela — embora não se privasse de muitas coisas — sustentava orfanatos em Scranton e contribuía, em particular, para o salário de muitos padres. Mas conservava isso em segredo. Francis não teria compreendido isso num rapaz que ele considerava egoísta, “inimigo do povo” e “explorador”.
Jeremy achara graça quando seu pai se candidatara a prefeito.
— Para quê? — perguntara.
Edgar Porter adquirira uma expressão grave e piedosa e respondera:
— Para procurar melhorar o mundo, dentro de minhas fracas possibilidades.
Jeremy desatara a rir, mas nunca explicara a causa desse riso. Gostava do pai, homem baixo e troncudo, de olhar santarrão e ar de quem se considerava um servo do bem-estar público.
— Este país precisa de músculos, papai — dissera o rapaz. — Músculos e cérebro.
Vendo que Edgar ficara sentido, Jeremy continuara, bondosamente:
— Não estou falando literalmente. Precisamos da musculatura da inteligência e não da moleza dos reformadores sociais. Nunca vi um reformador que soubesse usar os punhos ou expressar uma opinião sensata e realista. São só lágrimas, choramingos, gritos, denúncias azedas e inveja. Inveja, principalmente.
Quando o filho apoiava os sindicatos, o prefeito achava isso desconcertante e paradoxal.
— Por quê? — perguntava Jeremy. — Apoiarei qualquer sindicato ou organização que se dispuser a proteger as pessoas diligentes, esforçadas e orgulhosas. Mas lutarei até a morte contra os fracos que quiserem explorá-las para encher a barriga sem trabalhar. Creio que, com o tempo, os sindicatos serão a única coisa que restará entre a América e o despotismo. Isso, se eles também não caírem na armadilha do poder. — Jeremy sacudira a cabeça e continuara: — O mal da humanidade é ser humana.
Para os pais, Jeremy era um enigma. Para si próprio, era um homem sensato — um americano. Ele não “confiava” em ninguém e, principalmente, nos políticos. Certa vez esperara que seu primo Francis compreendesse isso e ficasse de seu lado, mas Francis o decepcionara: “Só vento e espuma e idealismo”, comentara ele. “Precisamos, no mínimo, ser pragmáticos e lidar com as coisas como são.” Jeremy encontrara um aliado em seu tio Walter, que muitas vezes desejava, intimamente, que Jeremy fosse seu filho. “Nenhum desleixo”, dizia o tio de si para si. “Apenas bom senso.” Por sugestão de Jeremy, Walter comprara vários exemplares do panfleto Mensagem a Garcia, de Elbert Hubbard, distribuindo-os à larga.
Jeremy achava cômicos os que se autodenominavam de inteliguêntsia. “Medíocres com pretensão a talentosos”, dissera ele. “Não há sangue, nem vitalidade, nem razão, nem virilidade nestes vermezinhos brancos. São como o povo que eles patrocinam — tolos, cobiçosos, chorões. E dependentes, e venenosos. Em épocas mais duras, neste milênio, a natureza os tratou cruelmente. Logrando a natureza, nós não fomos piedosos.”
Muitas entre as pessoas de temperamento mais brando o consideravam cruel, embora elas fossem as mais cruéis de todas. Jeremy compreendia-as imediatamente; eram hipócritas e queriam ter uma reputação de virtude cívica e humanitária. Evitava-as, quando possível, mas notava que elas predominavam nas universidades. Jeremy procurava argumentar com elas, mas não eram razoáveis. Apenas tinham emoção, que Jeremy desprezava. Desconfiava também dos ardorosos.
Embora fosse por natureza incisivo, vivo e forte, não era ostensivo, nem exaltado. Apesar disso, sua aparência impressionava, porque era alto e magro. Tinha um ar de vigor invencível, poderoso. Sua mãe tinha razão em considerá-lo viril. As mulheres, portanto, achavam-no fascinante e muito másculo. Não era afetado, tendo um ar franco, não ousado, embora frequentemente desafiador. Sua voz era vivaz e incisiva, um pouco alta, mas nunca dogmática. Suas palavras significavam, invariavelmente, o que expressavam.
Não herdara os olhos pálidos da mãe, que muitas vezes pareciam saltados como uvas verdes, nem sua aparência ou colorido. Seus olhos eram de um castanho penetrante, um tanto exigentes e, portanto, deixavam as mulheres perplexas. Olhos fundos, num rosto moreno e retangular. O nariz era bem saliente, a testa quadrada, o queixo firme, a boca sensual e cética, com frequentes expressões de humor. Os cabelos escuros eram ásperos e bastos, mas nunca estavam despenteados. As mulheres gostavam de suas mãos, grandes e muito masculinas, com unhas quadradas e limpas e articulações fortes. Sendo excepcionalmente culto, Jeremy era ao mesmo tempo vivo de movimentos e de espírito. Não se parecia com o pai, nem com a mãe. “Ele se parece com meu querido papai”, dizia Agnes Por-ler, com um carinho simplório. Era popular com a maioria de seus pares, embora fosse anátema para aqueles que se consideravam mais moderados, mais bondosos, mais suaves e, acima de tudo, mais civilizados. Aqueles que se orgulhavam da própria "tolerância” murmuravam ironicamente que ele parecia “estrangeiro”, até mesmo eslavo. E conseguira uma excelente reputação nos esportes.
Se é que tinha uma fraqueza, era seu pendor pelas mulheres, mas nesse ponto era muito exigente. Não gostava de insipidez e doçura e ar de desamparo. Mas admirava a vivacidade numa mulher, a autoconfiança, a coragem, tanto quanto a beleza. Para ele, nada de mulher “vulgar” ou pouco inteligente, nem mesmo em se tratando de uma prostituta. Jeremy possuía, sem que disso se apercebesse, um sentido de delicadeza e bom gosto. Ele não fora a razão óbvia da demissão de Alice, embora a moça apaixonada tivesse mais do que insinuado isso. Jeremy nem mesmo a notara em casa de seu pai. Não era o favorito da Sra. Jardin, embora esta se mostrasse obsequiosa com o filho dos patrões. Fora ela quem espalhara o boato sobre Alice, pois, apesar de Jeremy tratá-la com polidez, tinha um modo de olhá-la que, desagradavelmente, lhe revelava, num momento de desconforto, seu próprio caráter.
Ele decidira que a moça de Scranton tinha o seu lado divertido, mas que não era muito inteligente. Estava pensando em ir de novo para Nova York, antes de voltar para Harvard. A ideia de permanecer em Preston até o fim das férias o deprimia e o entediava.
Chegou a casa no princípio da tarde, no dia 4 de julho, indo encontrar a casa vazia. Não o esperavam a não ser dali a dois dias.
— Amanhã vou ao piquenique da igreja — dissera a Sra. Jardin a Ellen, na véspera do Dia da Independência. — Você terá que ficar até todos nós voltarmos, depois dos fogos à noite. Talvez às nove horas. Por que está piscando os olhos, como se fosse chorar? Alguém tem que ficar para preparar a ceia e servi-la quando voltarmos. Aqui sempre foi assim. Carnes frias, salada, pão quente, batatas fritas e as tortas que assei hoje de manhã. Não muito trabalho, mas você parece cansada, grande parte do tempo, embora seja maior do que eu. Tem umas pernas tão compridas!
Ellen não respondera, receando desatar em lágrimas. Pela primeira vez, desde que viera para Preston, ia perder o piquenique, para o qual May economizava o ano inteiro, e não veria os fogos. Acima de tudo, não ouviria a banda.
— Não adianta chorar — disse May à sobrinha, quando voltou para casa. Falou com firmeza, pois também tinha medo de desatar em choro. — É assim que são as coisas, Ellen. Sinto que você não possa voltar para casa antes das nove, mas... se você se sentir melhor, também não irei ao piquenique. Ficarei em casa à sua espera.
Esquecendo sua tristeza por um momento — e cheia de autocrítica — Ellen protestou energicamente. O feriado era uma das raras ocasiões de divertimento para a tia, que ficava esperando por ele durante meses. Finalmente convenceu May de que “não havia sentido” em ambas ficarem infelizes, e valentemente declarou que não se importava, em absoluto.
— A casa vai ficar silenciosa e talvez eu possa ir até a biblioteca e encontrar alguma coisa para ler — disse ela. — O parque não fica longe e, quando a banda tocar, poderei ouvir da sacada, ou da janela.
Obrigou-se a sorrir, inclinou a cabeça e May olhou para outro lado. “Não é justo”, pensou a tia. “Não, não é, mas desde quando o mundo é justo? É melhor que Ellen aprenda isso logo.”
Ellen estava tão triste que mal dormiu naquela noite. Quando saiu da cama às quatro e meia, estava escuro, como sempre, embora houvesse um tom de pérola no céu ao leste. May ainda dormia, pois aquele era um dia em que não trabalhava. Vestiu-se depressa e em silêncio, saindo de casa sem o menor ruído. Tomaria a primeira refeição em casa do prefeito, se a Sra. Jardin estivesse de bom humor. Na véspera ela não demonstrara o mínimo bom humor e saíra com firmeza da cozinha, levando os restos de comida para o cachorro, sem fazer um único comentário, enquanto a menina a olhava com água 11a boca. O motivo do descontentamento da Sra. Jardin não fora diretamente Ellen. Fora “aquele Sr. Francis”. Ele não aceitara um dos pratos que ela lhe oferecera e ignorava seus gestos insistentes. Para dizer a verdade, nem a notara. Estava pensando no tédio do dia seguinte; as manifestações patrióticas o irritavam. O patriotismo, para ele, era apenas chauvinismo, uma emoção frívola e egoísta e não a expressão do orgulho de uma nação por si mesma e do amor por seus heróis.
Assim sendo, na véspera Ellen ficara com fome até as onze e meia. Rezou para que a Sra. Jardin estivesse hoje de bom humor. Felizmente estava. A cozinheira até fez uma panqueca para a menina e esquentou o café, que esfriara. A gratidão de Ellen fez com que ela inchasse ante a própria magnanimidade.
— Afinal de contas, você está crescendo — disse ela. — Acabará sendo mais alta do que uma casa. Seu pai deve ter sido um gigante, ou coisa parecida. — Fez uma pausa, contraindo astutamente os olhinhos estreitos. — Como é que seu pai era, realmente?
— Não me lembro dele — respondeu Ellen, lambendo o garfo. — Tia May disse uma vez que ele era muito bonito, e moreno.
— Por que é que você tem o mesmo nome de sua tia... Watson?
Ellen ficou admirada.
— Tia May não lhe contou? Ela se casou com o primo de meu pai, um primo pobre. Ele e papai tiveram febre tifóide ao mesmo tempo, em Erie, e ambos morreram. Foi muito triste.
Como era essa a versão dada por May Watson, a Sra. Jardin ficou decepcionada. Estava convencida de que Ellen não somente era feia, como estúpida, e esperara conseguir dela algumas informações hediondas que refutariam as tolas “mentiras” de May e exporiam o passado e a origem escandalosa da menina, para sua satisfação. Teria sido um bom mexerico para ir contar às amigas.
— É melhor lavar esses pratos — disse, azedamente. — Você nunca está pronta para começar o trabalho.
Havia na casa um ar de feriado e, apesar de sua tristeza, Ellen o sentia. O Sr. Francis fora excepcionalmente amável, nesta manhã, chegando mesmo a tocar em sua mão quando ela lhe oferecera salsichas frescas, tendo erguido o olhar para ela, sorrindo docemente. A menina sentira tão grande afeição por ele que corara e quase deixara cair o prato, tendo sido repreendida pela Sra. Jardin, por sua falta de cuidado.
— Francamente, você não está conseguindo progressos no treinamento da menina — dissera a Sra. Porter à cozinheira. — Ela ainda é muito desajeitada.
A Sra. Jardin desejara bater em Ellen ali mesmo, mas notara que Francis a olhava friamente, compreendendo tudo. Apesar disso, permitira que Ellen comesse os restos, sentindo-se muito generosa e, acima de tudo, cristã.
•*pra um dia muito azul e dourado e os funcionários do tribunal agitavam bandeiras. Outras, menores, tinham sido colocadas diante de todas as casas da Bedford Street e até mesmo nos bairros mais pobres. Fogos explodiam por toda parte, seguidos por gritos de crianças excitadas. Até mesmo os cavalos pareciam sentir a atmosfera alegre, os cascos soando alegremente nas pedras do calçamento. As pessoas que passavam em carruagens trocavam cumprimentos e risos com os amigos com quem cruzavam. Em algum lugar, alguém tocava animadamente Hail, Columbia! num piano. As árvores iluminadas pelo sol cantavam ao vento poeirento. Havia no ar um cheiro acre de madeira seca e de pólvora, de rosas desabrochadas e de grama recém-cortada. O céu era de um violeta brilhante e parecia pulsar com o calor. A tristeza de Ellen diminuiu. Ela pensou nos livros da biblioteca, no sossego e na ausência da Sra. Jardin durante muitas horas.
Mas Francis estava taciturno. Ele não podia ofender o tio e a tia pedindo para ficar em casa. Aquele era o Dia do Prefeito. Seu tio seria o orador na escada do tribunal, depois do piquenique. Seria seu momento de glória. Escrevera e reescrevera o discurso várias vezes, trabalhando nele com afinco. Tinha ambições sobre as quais não falara a ninguém, nem mesmo à esposa. Esperava vir a ser senador, e sabia que muitos políticos de Filadélfia — homens poderosos — estariam presentes, pois as serrarias de Preston eram prósperas e pertenciam aos poucos habitantes ricos da aldeia. Esta tinha apenas alguns milhares de habitantes, mas todos se orgulhavam da festa do prefeito, admirando-o e gostando dele, pois tinha um gênio alegre e uma maneira fácil de falar — “democrática” —, o que inspirava afeição nos eleitores. Os senhores de Filadélfia, escrupulosamente, não se hospedariam em nenhuma das casas ricas de Preston, nem mesmo na casa do prefeito. Estavam hospedados no Pennsylvanian, o único hotel de Preston, que não era lá grande coisa. Dessa maneira eles demonstravam que não tomavam partido e não preferiam os ricos aos pobres. Afinal de contas, havia mais eleitores pobres do que ricos.
Edgar Porter compreendia perfeitamente o raciocínio deles, que era também o seu. Mas sua esposa se queixara:
— Acho falta de amizade, depois de você ter conseguido tantos votos para o Senador Meade, aqui em Preston.
Edgar sorrira, sacudindo a cabeça.
— Há nuanças, Agnes — replicara ele. — É tudo política.
Nalgum lugar, cortadores de grama soavam alegremente.
Alguém tocou uma trombeta. Cães latiram, assustados com os fogos. Preston estava mais barulhenta do que de costume, com a alegria do feriado. Ellen ficou mais animada. Lembrou-se de que ela e a tia costumavam ser evitadas no parque, nessas ocasiões, sentindo-se infelizes com semelhante tratamento. Lembrou-se também das zombarias que ouvira quando se dirigira a fonte para buscar água para May. Jogou a cabeça para trás. Nem mesmo os feriados eram motivo só de alegria para tia May e para ela. Tinham-se sentido infelizes, depois disso, sem coragem para dar uma à outra. Assim sendo, agora Ellen começou a tirar o pó dos móveis, a varrer, cantarolando baixinho. “Não estou triste por não ir”, refletiu, procurando não pensar na música e no fato de que poderia ter escapado ao trabalho. “Será bom ficar sozinha, por uma vez. Pois bem, espero que todos se divirtam.” O coração jovem se aqueceu. Amar e confiar. É bom pensar no divertimento dos... outros, mesmo que dele não participemos. Numa disposição de espírito generosa, a menina cantarolava, trabalhando, enquanto a Sra. Jardin preparava na cozinha as apetitosas cestas de piquenique. A cozinheira começou a cantar com sua voz infantil.
— “Vai haver um tempo quente na velha cidade, hoje à noite!”
Ellen detestava essa balada. Fechou de mansinho a porta do quarto que estava limpando. Começou a cantarolar baixinho, sem palavras, uma das mais belas canções que ouvira a banda tocar em determinado domingo, no parque, sem saber que era de uma ópera e que se chamava Os votos que fizemos. Sabia apenas que era celestial, ao mesmo tempo dolente e impressionante, mas permeada de ternura como uma reminiscência. Sua voz enchia o aposento quente e úmido com uma melodia ardente, pura e desejosa. Havia em seus olhos lágrimas de felicidade e de novo ela teve a promessa de um misterioso contentamento, do findar de anseios, da realização da esperança, realização do amor. Instintos novos e imperativos dela se apossaram e Ellen não podia compreendê-los. Podia apenas sentir a antecipação de uma delícia, mas não sabia que delícia seria essa. De repente ela ergueu uma cadeirinha, apertou-a contra o peito e se sentiu mais confortada.
Mais tarde a casa ficou deserta. Ellen comeu na cozinha seu jantar frio, apreciando cada bocado, embora o molho da carne estivesse congelado e o pão murcho. Sentindo-se alegremente desafiadora, foi até a enorme geladeira e tirou dali uma jarra de leite, vertendo num copo o líquido gelado. Depois atacou com ardor a lavagem dos pratos. Seu corpo jovem estava satisfeito com a comida e ela recomeçou a cantar. Ouviu batidas de portas nas casas onde os moradores se apressavam para ir ao parque. Na igreja, os sinos começaram a tocar. Ouviram-se passos na calçada, lá fora. Depois, silêncio.
Ellen passou pela porta da frente e ficou no terraço, à escuta. Não havia ninguém por perto; a fumaça dos últimos fogos dissolvia-se no ar. Procurou ouvir o som da banda. Distinguiu-o, fraco, mas firme, e sorriu ao perceber as marchas. Uma trombeta soou como uma bolha dourada e de novo ela apertou o peito com os braços, deliciada. Soaram tambores e Ellen sentiu o coração bater mais depressa. O céu nunca fora tão luminoso. No silêncio, as árvores mal se moviam, a não ser as copas que brilhavam com um dourado trêmulo. As fachadas das casas do outro lado da rua sonhavam ao sol, manchadas pelas sombras das folhas. Os gramados adormecidos brilhavam, pois tinham sido regados pouco antes. Fresco e excitante, o cheiro da água do rio chegou até ela. As serrarias estavam silenciosas. Tudo era paz. Não havia o rangido de fonógrafos, o batucar de pianolas. Ellen conheceu o precioso fim de tudo o que era feio e discordante. Ainda não conhecia o significado da harmonia, mas podia senti-lo.
Foi para o jardim, aonde nunca tinham permitido que fosse, e ficou maravilhada com a quantidade de flores viçosas. Viu suas cores, as hastes suculentas, as folhas brilhantes. Havia cercaduras baixas, brancas e cor-de-rosa, à volta dos lírios de verão, alaranjados; havia canteiros de rosas, os últimos íris cor de cobre ou avermelhados, montes de gladíolos rosados ou brancos, sinos de coral e uma árvore baixa cheia de grandes flores rubras. Havia vidoeiros, abetos vermelhos, bordos e olmos. Ela sentou-se à sombra e recostou-se num tronco, parecendo-lhe que podia sentir uma vida mística fluindo em seu corpo àquele contato. À porta do canil, Fido ofegava, olhando-a com descontentamento. Latiu uma vez. Com um suspiro de prazer, ela cochilou, a doçura da brisa refrescando-lhe o rosto. Seus cabelos moviam-se e chamejavam. As mãos machucadas estavam pousadas no colo, num relaxamento infantil. Ellen não sabia que era a coisa mais linda daquele jardim e que parecia uma ninfa adormecida. Pássaros sonolentos espiavam-na da árvore, em atitude indagadora. Abelhas esvoaçavam à sua volta e uma pousou por um instante em seus cabelos. Uma borboleta branca descansou em seu joelho, fechando as asas.
Foi ali que Jeremy Porter a encontrou. Quando descobriu que a casa estava vazia, lembrou-se de que a família costumava ir ao parque no 4 de Julho. Depois de reanimar-se com o uísque tio pai — o prefeito era um grande abstêmio em público — dirigira-se para o jardim. Esperava encontrá-lo também deserto. Ficou interessado quando viu o estremecer de um vestido claro perto de uma árvore e foi investigar. Deu com Ellen adormecida e ficou olhando-a, sem poder acreditar no que via.
O sol descia para o oeste e Ellen continuava dormindo, sonhando com outro jardim que nunca vira — sonhando também com uma espera, uma espera feita de felicidade e de anseios profundos, com um jardim perfumado e nevoento, sem limites, e moitas às quais a tarde dava um tom de pérola. Ouviu o canto pungente de um pássaro e soube que era um rouxinol, embora jamais tivesse ouvido o trinado de um deles. Ergueu os olhos sonhadores para o céu opalescente e, feliz, suspirou profundamente. Seus lábios cor de damasco sorriram e era o sorriso de uma mulher e não o de uma criança. “Deus do céu, de onde veio esta beleza?”, pensou Jeremy. “Quem é ela?” Aproximou-se e notou a brancura do colo e dos braços de Ellen, o contorno perfeito do rosto, a massa de cabelos vermelhos que pareciam ter vida, pois davam a impressão de respirar, movendo-se, estremecendo. Jeremy examinou aquele rosto sonhador e viu-lhe o ar inteligente, a inocência e a paz. Achou que ela não deveria ter mais de dezesseis anos e que era a coisa mais linda que jamais vira. Examinou-a mais atentamente e notou as mãos calosas e com bolhas, mãos longas e finas, com unhas quebradas, e achou que ela devia ser a nova empregada que viera substituir Alice.
Cautelosamente, acendeu um cigarro e ficou fumando e deliciando-se com aquela visão. Os seios núbeis e macios subiam e desciam lentamente; as pernas relaxadas eram bem-feitas e podia-se ver o seu contorno sob o vestido muito justo e quase em frangalhos. Ellen tirara os sapatos para descansar os pés doloridos e Jeremy viu que nem mesmo as meias pretas podiam ocultar sua forma. Pés finos e flexíveis como as mãos.
Jeremy reverenciava a beleza tanto quanto respeitava a inteligência. Encontrar essa combinação numa criadinha, marcada pela pobreza e pelo trabalho, era uma coisa que lhe pareceu incrível. Ele também admirava poesia. Lembrou-se de um verso de Elegy written in a country churchyard.
“Gemas há cujo brilho — o mais sereno e puro —
Nos abismos do oceano encontra-se encoberto,
Muita flor nasce — e não ser vista é o seu futuro E desperdiça o dulçor nos ares do deserto.”
“Diabo, estou ficando sentimental”, pensou ele. De uma garota assim não se poderia dizer que “não ser vista é o seu futuro”, nem mesmo no deserto daquela cidade. Examinou melhor o rosto da menina para ver se havia algum sinal de libertinagem e achou incrível não encontrar nenhum. Como é que nunca a vira nesta cidade onde nascera e passara a maior parte de sua vida? Era possível que fosse uma recém-chegada. Ellen dormia e sorria. Jeremy aproximou-se mais ainda e sua sombra caiu sobre ela. As pestanas douradas de Ellen estremeceram; ela murmurou qualquer coisa, moveu-se e abriu lentamente os olhos, erguendo-os com uma expressão perplexa e assustada.
Capítulo 5
O primeiro pensamento de Ellen foi que aquele estranho era um “ladrão”. Viu diante de si um jovem alto, moreno, musculoso, um estranho com expressão divertida nos olhos e um sorriso tranquilizador que mostrava dentes brancos e fortes - e não teve medo. Levantou-se de um salto, empalidecendo, atirando os cabelos para trás. Olhou à volta, procurando um lugar aberto por onde pudesse fugir.
— Não tenha medo — disse ele, com uma voz suave que leria causado admiração a quem o conhecesse. — Sou Jeremy Porter. Vim cedo para casa.
— Oh — disse Ellen. Já não tinha medo, mas a timidez tornara mais forte o seu rubor. — Desculpe-me. — Ele achou a voz da menina musical e até mesmo ressonante e seu prazer aumentou. — Eu... não sabia... Sr. Porter. — Ellen estava confusa. Disse ainda: — Estão todos no parque; o senhor pode encontrá-los lá. — Obrigou-se a encontrar o olhar dele e tentou sorrir, com ar de desculpa.
— Não quero ir ao encontro deles — replicou Jeremy, fazendo com que os olhos dela se alargassem mais ainda. — Como é que você se chama?
— Ellen Watson, senhor.
O rapaz reconheceu o nome, pois vira May muitas vezes ali na casa. Perguntou:
— Watson? É parente de May?
— Ela é minha tia.
Por que ele a encarava daquele modo? May dissera que
Jeremy era um rapaz “terrível”, muito áspero e pouco respeitoso com os pais e que parecia um operário, sem elegância, que não acompanhava a moda. Assim sendo, Ellen tinha dele a ideia de um homem sem boas maneiras, rude, com fama de cruel, sem “jamais uma palavra agradável para dizer”.
A imagem agora desapareceu e Ellen achou-o muito bonito e completamente diferente dos outros homens de Preston. Suas roupas não eram “esportivas” e sim escuras e bem-talhadas, e ele estava diante da menina em atitude descontraída, sorrindo como para lhe dar maior segurança. “Ora, ele é de fato um cavalheiro”, pensou Ellen e, apesar de sua timidez, sentiu uma onda de calor invadi-la. Depois, de repente, teve vontade de fugir e esta sensação era deliciosa e excitante.
— Vou servir-lhe uma ceia, senhor — gaguejou ela, agora enrubescida.
— Por falar nisso, estou com um pouco de fome e de sede — disse Jeremy. — Obrigado.
Até então, somente Francis lhe agradecera assim. Depois ela se assustou e em seu rosto surgiu uma expressão alarmada.
— Senhor, por favor não conte ao prefeito e à Sra. Porter... e nem à Sra. Jardin... que me encontrou aqui dormindo! Isso é horrível. Eu devia estar dentro de casa, trabalhando. Eu vim... apenas vim para o jardim, para vê-lo. Nunca o tinha visto. Estava um pouco cansada e peguei no sono. Tia May não me perdoaria.
Ela tentou esconder as mãos trêmulas sob o avental branco. Seus olhos se alargaram com expressão súplice, marejados de lágrimas de vergonha e de apreensão. Que iria o rapaz pensar dela, dormindo daquele jeito no jardim? Pensaria que era preguiçosa e inútil.
— Você tem o direito de ficar cansada. Tem o direito de ver um jardim... Ellen.
A menina ficou ainda mais assustada e não soube o que dizer. Murmurando uma palavra de pesar, inclinou a cabeça e passou depressa por ele, correndo para a casa como se alguém a perseguisse. O rapaz observou-a partir, de sobrecenho carregado. Vira o medo da menina e pensou: “Pois bem, eis outro exemplo da solicitude de meus pais pelo povo. Mas que beleza, que voz, que rosto! Admira-me que não vire a cabeça de papai”. Jeremy sabia de todas as visitas “oficiais” do pai a Filadélfia, onde aparentemente ia consultar seus correligionários.
Seguiu a moça até a casa e encontrou-a ocupada, aflita, na cozinha. Puxou uma cadeira e sentou-se. Ellen relanceou o olhar para ele, admirada. Ninguém da família ia à cozinha, exceto a Sra. Porter, e ela nunca se sentava quando dava ordens à Sra. Jardin. Mas Jeremy estava ali, à vontade, com um cotovelo na mesa, olhando-a com um interesse que ela nunca encontrara antes.
— De onde é que você vem, Ellen? — perguntou ele. — E não há pressa, sabe? Não precisa movimentar-se tanto.
— Eu... moro aqui, em Preston, senhor — respondeu a menina, ofegante. — Nasci em Erie. Tia May e eu moramos aqui desde que eu tinha dois anos.
— E quantos anos tem você agora, Ellen?
Jeremy notou a hesitação da menina.
— Tenho catorze, senhor.
Ele ergueu as grossas sobrancelhas negras. Achara que ela deveria estar perto dos dezesseis, ou mesmo dos dezessete, Ellen movimentava-se rápida e eficientemente pela cozinha. Depois correu para a sala de jantar. Jeremy ouviu-a lá e disse:
— Ellen, não se preocupe com essa sala fúnebre. Vou comer aqui na cozinha. É mais agradável.
Ela apareceu à porta, mais assustada ainda.
— Na cozinha, senhor? Ninguém come aqui, a não ser a Sra. Jardin e eu! E o jardineiro e o outro empregado.
— Pois bem, é aqui que vou comer. Eu também gosto de companhia. Você já comeu?
Ellen não podia acreditar. Encarou-o por um momento c respondeu:
— Não, senhor. Vou cear depois que a família tiver comido, mais ou menos às nove horas.
Interrompeu-se bruscamente, levantou a cabeça e um sorriso beatífico surgiu em seus lábios. A banda distante tocava uma canção alemã. A música era muito terna e, ao mesmo tempo, dolente. Jeremy observava-a enquanto ela ouvia de mãos entrelaçadas. Ellen parecia muito distante, como se estivesse ouvindo não somente aquela música, mas também uma outra, juntando-se as duas numa incomparável harmonia. Jeremy fumava, pensativo, sem se mover porque estava encantado e estranhamente perturbado. Não podia desviar os olhos da menina. Ela ainda lhe parecia incrível.
Ellen trouxe, constrangida, os pratos que levara para a sala de jantar e colocou-os na mesa da cozinha, onde antes pusera uma toalha de renda. Jeremy começou a observá-la com ar divertido, vendo-a dispor os talheres com cuidado. O rosto de Ellen tinha uma expressão grave, mas também incerta, como se ela deplorasse e ao mesmo tempo não compreendesse aquela preferência pela cozinha, onde as pessoas finas nunca faziam as refeições.
— Onde estão os seus pratos, Ellen? — perguntou o rapaz.
A menina virou-se para ele, escandalizada.
— Os meus, senhor?
— Pois bem, sim. Você vai cear comigo, não vai?
Ela agarrou o avental, depois ergueu a cabeça com altivez, sem demonstrar o menor servilismo.
— Isso seria muita familiaridade, senhor.
— Da parte de quem? — perguntou ele, sorrindo. — Da sua ou da minha?
— Da minha — respondeu Ellen com firmeza.
Ela ficou ali de pé e Jeremy continuou fumando, pensativo, observando-a.
— Você acha que lhe estou dando confiança, Ellen? Que estou sendo condescendente?
Aquela era uma palavra nova que ela acrescentara recentemente ao seu vocabulário em expansão. Ellen ficou contente porque poderia usá-la, agora.
— Sim — respondeu. — Senhor.
— Pois bem, não estou — replicou Jeremy, tão contente quanto ela. — Acontece que gosto de companhia quando como. Sou um sujeito gregário. Gosto principalmente da companhia de gente bonita.
A expressão do rosto de Ellen mudou. Ela olhou-o com expressão de dúvida. Estaria Jeremy zombando?... A menina esfregou as mãos nos quadris com ar distraído, fitando-o com aquela seriedade que o rapaz achava encantadora. Finalmente, disse:
— Mas não sou bonita. Todo mundo diz que sou feia, até mesmo tia May, que gosta de mim.
Jeremy pensou, por um momento, que ela estava sendo coquete; depois percebeu que não e encarou-a com incredulidade.
— Você? Feia?
— Sim, senhor.
Ele reclinou-se na cadeira, fitando-a ainda.
— Ellen, você nunca se olhou no espelho?
A menina suspirou.
— Sim, senhor. Não me pareço com ninguém e não sou como as meninas bonitas.
Jeremy endireitou-se e fitou-a com ar sério.
— Ellen, agradeça a Deus, todos os dias, por isso. Você não sabe como tem sorte. — Fez uma pausa, ainda incrédulo.
— Na maioria dos casos, as pessoas são quase exatamente como as outras e comportam-se como as outras e têm os mesmos pensamentos e as opiniões correntes. A gente mal pode distinguir umas das outras. Para usar um aforismo, são como contas iguais e suas almas são recortadas com o mesmo desenho, com a mesma tesoura. É assim que você deseja ser?
Ela apreendera quase tudo o que ele dissera e refletiu sobre aquilo. Depois, de repente uma covinha apareceu em seu rosto c ela respondeu:
—* Não, não é assim que desejo ser, senhor. Mas, se eu fosse como as outras pessoas, elas não me odiariam tanto.
— Ah, então é isso — replicou ele, franzindo as sobrancelhas. Contraiu os olhos ante a fumaça do cigarro. — Sabe por que a odeiam? Você é diferente e é por isso que deveria agradecer a Deus. As pessoas são como os outros animais; a pessoa diferente sempre desperta suspeitas, é sempre temida e detestada e, se possível, aniquilada. Você está em boa companhia, Ellen.
Ela refletiu sobre aquilo e suas sobrancelhas de um ruivo dourado se juntaram. Finalmente, disse:
— Sr. Porter, é muito triste ver que as pessoas não gostam de nós porque somos diferentes, na aparência e em outras coisas.
— Você deveria congratular-se por não gostarem de você, Ellen. Jamais tente conformar-se. Você estaria apenas usando uma máscara. Os animais inferiores são muito astutos e acharão que, afinal de contas, isso é fingido e a ridicularizarão. Seja você mesma, criança, seja você mesma e deixe que os animais iguais se elogiem mutuamente por nunca terem um pensamento original nem uma opinião diferente. Você me compreende?
— Um pouquinho, senhor — respondeu ela, suspirando de novo.
Olhou vivamente para Jeremy e agora seus instintos de adolescente se avivaram. Ela ficou ofegante, sentindo um calor no corpo e um estranho tipo de conforto e de proteção. Pela primeira vez na vida experimentava o prazer da comunicação, de ser compreendida, de ser capaz de conduzir uma conversa que não seria mal interpretada e não despertaria homilias de pessoas graves e nem tampouco censuras. Ficara grata a Francis por sua bondade e por isso sentia por ele uma afeição e uma dedicação infantis. Mas esta, agora, era uma nova experiência; quando olhou de novo para Jeremy, o calor de seu corpo aumentou e ela se sentiu prestes a desatar em lágrimas de alegria. Queria tocar em Jeremy, pôr sua mão na dele com total confiança. Queria rir com ele.
— Acho que precisamos ser caridosos com as pessoas, porque elas não... sabem — disse Ellen, baixinho.
— Isso é tolice, Ellen. Por que haveríamos de suportar os tolos com paciência? Agora, não me diga que isso está na Bíblia. Sei disso. Fui criado com a Bíblia. Creio que, na realidade, significa que não devemos oprimir os tolos, nem afastá-los com desprezo, pois são humanos como todos nós. Então, de certo modo, devemos ter pena deles porque são daltônicos e surdos. — Jeremy escolhera palavras simples, para que seu sentido fosse claro para a menina e não a deixasse perplexa. Continuou: — Eu mesmo não sou caridoso. Os tolos, sendo maioria, têm seu lugar no mundo, mas certamente não na companhia dos inteligentes e nem no governo. Posso ser caridoso como o diabo, contanto que os tolos não me incomodem e nem insistam para que eu os note.
Jeremy ficou admirado e contente com as palavras que Ellen pronunciou em seguida.
— Mas, senhor... O Sr. Francis (ouvi-o falando com o pai, uma noite destas) diz que todos os homens são iguais e que, se alguns são tolos, é porque não tiveram educação. Ele diz que, na realidade, não há diferença entre as pessoas. Apenas vantagens.
— Que é que você acha disso, Ellen?
Ela pareceu indecisa e constrangida.
— Eu... não sei, senhor. Sei que ele é muito bom. Acho que quer acreditar no que diz.
— Ellen, uma aparência de bondade é uma fraude, a não ser que seja seguida por atos de bondade e não apenas por palavras. Conheço algumas pessoas realmente boas, poucas, é verdade, e os tolos as julgam irascíveis (quero dizer, mal-humoradas), más e francas demais. Mas conheço centenas de pessoas ostensivamente boas (quero dizer: parecem boas). Usam palavras em vez de dinheiro e de assistência verdadeira. Você está me entendendo?
Ela apreendera o sentido geral do que ele dissera, embora Jeremy tivesse usado frases que lhe eram estranhas. Soube pela primeira vez que o significado geral podia ser mais claro do que a linguagem. Inconscientemente se aproximou tanto dele que Jeremy poderia ter posto a mão naquele corpo virginal. Ele sabia que aquilo não era um ardil, não era um convite. Era como se a menina se aproximasse de um amigo.
— Mas o Sr. Francis é realmente bom, senhor.
Jeremy sorriu com ironia.
— Não há dúvida de que ele parece bom, e não há dúvida de que é sincero. Isso lhe dá uma confortável sensação de magnanimidade; é muito precioso para os amantes do próximo. Os hipócritas muitas vezes são enganados pela própria hipocrisia. Não estou dizendo que o seu Sr. Francis seja um mentiroso; lem grandes qualidades, que ele próprio reconhece, e, às vezes, penso que é um inocente. Como você, Ellen. — Jeremy sorriu. — Pois bem, deixe para lá. Este presunto parece delicioso e creio que estou com fome. Mas não vou comer nada, a não ser que você também coma, e nesta mesa, comigo.
— Tia May, a Sra. Porter e a Sra. Jardin dirão que sou confiada, senhor — respondeu a menina com um sorriso dúbio.
— Pois bem, seja confiada, minha querida. O convite é meu.
Ellen percebeu que gostava da voz dele, forte e até mesmo alta e com uma nota de sarcasmo. A conversa a encantara, embora não pudesse explicá-la. Era como se tivesse passado fome a vida inteira e agora recebesse alimento. Jeremy observou-a cortar cuidadosamente o presunto e arranjar a salada na mesa. Nunca vira mãos tão bonitas, nem gestos tão graciosos. Ide não se enganara: a menina era inteligente. Quando viu que estava ligeiramente excitado, disse de si para si: “Ora, ora. Ela é apenas uma criança”. Sabia perfeitamente que os homens que procuravam crianças não eram vistos com bons olhos pela lei e riu de si mesmo. Ellen, no entanto, era muito mais inteligente e perspicaz do que, por exemplo, a moça de Scranton que o iludira deixando que ele pensasse que ela tinha talento. Jeremy viu confirmada a sua opinião de que a inteligência não era consequência da educação ou de “vantagens”. Era uma coisa inata. Toda a educação e as vantagens do mundo não poderiam transformar a tolice em sabedoria. O velho aforismo, que ele geralmente desprezava, estava certo, nessa circunstância: “Você não pode fazer uma bolsa de seda com a orelha de um porco”.
Lembrou-se do que Aristóteles dissera: “Nem tudo o que anda com a pele de um homem é humano”. Ellen cortou o pão e pôs a manteiga e as xícaras na mesa. O fogão crepitava e o café borbulhava. Jeremy observava a moça com uma atenção que não conhecera antes e depois experimentou uma nova sensação. Pela primeira vez na vida sentiu uma profunda ternura por uma pessoa do sexo feminino, uma doçura, uma estima, um desejo de proteger. Isso o perturbou. Confundiu estas sensações com a excitação que sentia.
Ellen tremia intimamente e, no entanto, se sentia em paz, cercada por compreensão, por verdadeira bondade e camaradagem. Uma sensação de alegria a invadiu. Teve de novo vontade de tocar em Jeremy, de colocar a mão no ombro dele, não vendo nisso nada de “inconveniente”, como diria tia May. Havia nela um desejo de entregar-se, de dar-se inteiramente, de abraçar, de ficar tranquila e em repouso. Quando olhou timidamente para Jeremy, seu sorriso era tão brilhante que ele ficou assustado, podendo apenas fitá-la em silêncio. Nunca encontrara total confiança em ninguém. A atmosfera na cozinha se tornou carregada, até mesmo para Ellen. Ela desejava gritar, cantar e até dançar.
Jeremy pensou: “Há educação, aqui, e sangue bom, e isso não pode ser erradicado. Qual será a origem dela? Não há dúvida de que não é vulgar, nem comum. Um rosto desses não veio da sarjeta; um cérebro desses não é plebeu”. Lembrou-se vagamente do que lhe haviam ensinado quando era um menino desamparado, às voltas com a Bíblia todos os domingos. Que fora mesmo que Cristo dissera? Que os mendigos frequentemente andavam a cavalo enquanto príncipes andavam na poeira da estrada. Cristo não fora nenhum igualitário e provavelmente era esta a razão de os novos amantes do próximo O odiarem, procurando distorcer Seus significados ou refutá-los com desprezo, ou mesmo denegri-los com ódio. Para Jeremy, entretanto, Cristo era um paradigma, tanto quanto Ele o era para Francis, sendo útil quando se conduzia uma conversa filosófica.
O olhar errante de Jeremy — ele procurava não o focalizar muito atentamente em Ellen — viu um livro estragado perto da pia. O rapaz apanhou-o displicentemente. Depois, exclamou:
— Thoreau! De quem é este livro?
— É meu, senhor — respondeu Ellen, ansiosamente, experimentando de novo uma sensação de culpa. Mas Jeremy sorria, de lábios entreabertos, como se estivesse vendo alguma coisa impossível e humorística.
— Deus do céu! — exclamou. — Você e Thoreau. Ora, não fique infeliz. Diga-me, querida, você entende o que ele escreve?
— Alguma coisa, senhor — respondeu Ellen, torcendo o avental. Acrescentou, vivamente: — Uma senhora de idade, a Sra. Schwartz, me deu este livro. Tia May e outras pessoas dizem que ela é feiticeira, mas não é. — Fez uma pausa e continuou: — Gosto de ler, embora não tenha muito tempo.
Jeremy ainda estava incrédulo.
— Pensei que as pessoas de sua idade gostassem mais de Elsie Dinsmore.
— Não creio que tenha lido um dos livros dela — replicou Ellen. Serviu café a Jeremy. Não podia compreender a sorridente vivacidade dos olhos dele, nem o largo sorriso.
— Elsie Dinsmore é o nome de um livro, Ellen. Todas as meninas boazinhas o lêem. Não tem importância. Então uma feiticeira o deu a você, hem? Não duvido!
Cada vez mais perplexa, Ellen disse:
— Ela me chamou de “Filha de Toscar”. — Desviou o olhar timidamente e acrescentou: — “Linda filha de Toscar”.
Jeremy observou o rosto da menina.
— A sua Sra. Schwartz não é uma feiticeira. Ou talvez seja... Quanto você leu deste livro, Ellen?
— Apenas um pouquinho aqui e ali, senhor. Procuro compreender, mas às vezes preciso reler uma página várias vezes, antes de entender... Todo mundo diz que sou estúpida e talvez eu seja... — disse Ellen, com expressão deprimida no rosto.
— “Que o poeta não derrame lágrimas apenas para a felicidade do povo” — citou Jeremy. — Sabe o que isso significa, Ellen?
A menina ficou pensativa. Sentou-se lentamente, sem ser convidada e com ar absorto. Começou a passar o indicador na renda engomada da toalha da mesa.
— Felicidade do povo — murmurou ela. — É sobre isso que o prefeito está sempre falando. Quer dizer o bem público, não é?
— Pois bem, é uma interpretação razoável. Continue, Ellen.
Ela contraiu os lábios e olhou para a parede.
— Creio que o que Thoreau disse significa que o poeta deveria ser infeliz a respeito de... outras coisas, talvez mais importantes.
Os dentes grandes e brancos de Jeremy brilharam num sorriso.
— Correto. Que é que você diria que é, pelo menos, tão importante quanto a felicidade do povo?
— Pois bem, acho que uma única pessoa, senhor, apenas uma, é tão importante quanto milhões de outras. Talvez mais. A gente pode entender uma pessoa e o que ela pensa... e... — Ellen procurou a palavra exata. — ... seus sentimentos, seus pensamentos... pois bem, suas tristezas... Tudo isso é mais claro e mais próximo de nós do que um monte de gente. Não creio que o que Thoreau diz signifique que seja uma questão de muitos, senhor. Acho que ele quer dizer que qualquer pessoa... e seus sentimentos são... são iguais... ao que milhões sentem.
— Em resumo, a quantidade não aumenta a importância. É isso o que você quer dizer, Ellen?
Ela refletiu sobre o que ele dissera e inclinou a cabeça, com ar vivo.
— Sim, senhor. As pessoas são “o bem-estar público”, mas uma pessoa é uma pessoa e, portanto, é mais importante. Não creio que eu saiba o que isso significa realmente.
— Creio que sabe. Em resumo, a infelicidade de um homem é tão grande quanto a de milhões. A multiplicação nada acrescenta. Ellen, creio que acrescentamos uma nova dimensão ao que Thoreau disse. Ele continua falando sobre arganazes e gaviões, o que nada tem a ver com o que discutimos. Não vamos comer?
Ellen pegou apressadamente o garfo, como se tivesse ofendido Jeremy sem intenção. Estava sentada desajeitadamente na beirada da cadeira, como se temesse que a mandassem levantar-se, devido a um novo capricho. Mas, quando percebeu que Jeremy achava natural a presença dela e não estava fingindo bondade ou condescendência, começou a comer com apetite. Pareceu-lhe que a cozinha, com a luz vermelha do pôr-do-sol na janela, era o mais celestial dos lugares, pois estava cheia de contentamento e de amizade e não de malícia ou de desconforto.
O rosto de Jeremy se tornara sombrio. Vendo isso, Ellen não ficou alarmada, pois agora estava repleta de confiança e compreendia que aquele senhor elegante não estava aborrecido com ela e que, na realidade, não estava pensando nela. Os cavalheiros tinham muitas coisas sérias em que pensar e a gente devia saber disso e não ficar ofendida, nem sentida, nem com medo quando eles estavam entretidos com seus pensamentos. Ide conhecia o mundo terrível que ela desconhecia, pois a sua vida não era a dela, e Ellen era uma estranha no mundo de Jeremy, embora ele pudesse entrar no dela facilmente. Por um momento ou dois a menina ficou pensativa e de novo cheia de anseios. Jeremy não permaneceria naquela casa; partiria e ela ficaria. Jeremy esqueceria, mas ela não esqueceria. Seus anseios se tornaram mais fortes, assim como sua tristeza e o desejo de não ser esquecida, não ser abandonada. Ainda não tinha catorze anos, mas amava como se fosse uma mulher.
Não poderia ir aonde ele fosse, e sentiu sua primeira angústia verdadeira, de pessoa adulta. Jeremy conhecia milhares de pessoas iguais a ele, mas Ellen apenas o conhecia, a ele. Jeremy i iria e conversaria com aquelas pessoas, mas ela não tinha mais ninguém. Mentalmente Ellen estendeu as mãos para segurá-lo, sabendo que ele nem mesmo sentiria o apelo ansioso. Jeremy ergueu vivamente o olhar e notou o sofrimento no rosto da menina.
— Que aconteceu, Ellen? — perguntou, achando-a mais velha, porque aquela expressão do olhar de Ellen, agora úmido de lágrimas, não era infantil.
— Eu estava pensando que a tristeza é a coisa pior deste mundo — respondeu a menina, com voz embargada. Falara livremente, não mais esperando ser ridicularizada, nem incompreendida, nem censurada, que era o que sempre esperava dos outros.
Jeremy largou o talher. Ellen era muito jovem; que sabia ela de tristeza? O rapaz ia dizer isso, mas deteve-se. “Ela sabe muito bem”, pensou. “Se na realidade ainda não sentiu tristeza, apesar de sua mocidade, sabe que ela existe e isso é uma tragédia.”
— Por que ficou triste, Ellen? — perguntou, com voz compassiva.
Ela esteve a ponto de gritar: “Porque você me deixará e cu nunca mais o verei e não suporto pensar nisso!” Mas percebeu a tempo, horrorizada, o que esse grito significaria para de Jeremy a acharia não apenas ousada, como também impudente e riria dela, considerando-a presunçosa. Procurou palavras inócuas que não a atraiçoassem e então, horrorizada e humilhada, desatou cm choro. Escondeu o rosto nas mãos, desamparada, inclinou a cabeça e uma grande tristeza se apossou dela, uma tristeza que não podia compreender completamente, exceto que era enorme e que jamais havia conhecido um sentimento com tanta intensidade e tanto desespero.
Jeremy fitava-a em silêncio. Não sabia o que fazer. Não sabia por que motivo ela chorava com aquele abandono adulto. Mas sentia a aridez daquela vida moça, seu estado de desesperança, o deserto sem amor no qual ela vivia, a miséria de seu futuro até o dia de sua morte insignificante. Acreditava que Ellen de repente compreendera que ela própria e a compaixão dele — a primeira compaixão verdadeira que Jeremy jamais conhecera — a tornavam infeliz e quase que fisicamente doente.
Levantou-se e ficou perto da menina que chorava. A luz na cozinha diminuía, havendo ali um ambiente triste e sombrio, apesar do tom rubro das beiradas do fogão, do cheiro de um café bom e de uma comida apetitosa. Ele olhou para a cabeça inclinada, onde a massa de cabelo se agitava com um brilho suave, viu as mãos ásperas, as lágrimas que saíam por entre os dedos. Os soluços de Ellen eram profundos.
— Ellen — disse ele. Estendeu a mão e tocou-a pela primeira vez, no ombro e no pescoço branco e macio. Foi como se tivesse tocado em fogo. Teve uma vibração no corpo inteiro e depois enrijeceu. Sentiu uma onda de desejo, mesmo enquanto sua piedade e sua ternura cresciam, e era um desejo maior do que qualquer outro que jamais experimentara. Esqueceu-se de que ela era quase uma criança; para Jeremy, Ellen se tornara a mulher amada e sofredora que ele precisava confortar e depois tomar, não apenas com volúpia, mas também para consolá-la, amá-la e protegê-la.
Ao sentir que ele a tocava, Ellen ficara quieta. Parara de chorar. Lentamente tirou as mãos do rosto e ergueu para ele o rosto úmido, em silêncio, sem sentir acanhamento, certa de que encontraria compreensão, com esperança de ser consolada. Quando Jeremy estendeu as mãos e fê-la levantar-se, Ellen se aninhou nos braços dele imediatamente. Estava silenciosa, mas as lágrimas ainda escorriam por suas faces. Ele abaixou os olhos. Seus braços continham o mundo inteiro, rico, satisfatório, infinitamente estimulante e adorável.
Instintivamente e com a intensidade do amor, Ellen comprimiu o rosto no ombro dele. Seus braços jovens enlaçaram o pescoço de Jeremy e todo o seu sofrimento — embora indefinido — desapareceu numa felicidade quase insuportável. Sentiu a força dos braços de Jeremy à sua volta, e foi como se tivesse chegado a um abrigo inexpugnável, a um lar que por nada poderia ser ameaçado, e como se estivesse finalmente segura, livre do sofrimento que suportara em sua vida jovem. Quando Jeremy lhe beijou os lábios suavemente, ela correspondeu com uma inocência fervorosa e uma grande confiança.
O rapaz prendeu-a a princípio suavemente e depois com crescente paixão, afagando-lhe os cabelos, apertando-a mais ainda e sendo correspondido. Depois, embora desejasse possuí-la, queria apenas ficar deitado ao lado dela num lugar escuro e macio, enlaçando-a e falando-lhe com doçura e amor, falando a uma pessoa que nunca antes ouvira essas coisas. Desejou levá-la para um lugar onde se sentiria segura e jamais ameaçada, onde nunca tivesse fome e nunca fosse obrigada a lutar e a sofrer.
Nessa perfeita comunhão, nenhum dos dois viu abrir-se a porta nem ouviu duas exclamações simultâneas.
Depois, um homem disse:
— Oh, em nome dos céus! Que é isso?
Uma mulher disse, estridentemente:
— Ora, que é isso, que é isso?
O lampião a gás foi aceso e Jeremy e Ellen piscaram, confusos, e separaram-se. Jeremy perguntou:
— Que diabo de coisa vocês estão fazendo aqui?
Capítulo 6
Francis suportara o discurso do tio, longo e incoerente, embora vigoroso, e que todo mundo, menos ele, aplaudira. Aguentara todas as marchas da banda e depois se sentira por demais preguiçoso para apreciar as outras músicas. Além do mais, não gostava de canções alemãs; lembravam sofrimento e morte, coisas que o deixavam constrangido, inquieto e temeroso. Não era homem de encarar a realidade. Tinha horror às coisas sombrias e a ver a vida tal qual é. Tinha a crença absurda de que, se não fosse por “elas”, a existência poderia ser pura, simples, “boa”, justa e rica, mas não sabia bem quem é que se opunha a essa utopia. Sabia apenas que essas coisas existiam — nalgum lugar, pairando sobre seus montes de ouro. O fato de seu pai ser muito rico não o aborrecia. A fortuna lhe dava conforto, o que considerava um direito seu. Pedira ele para nascer? O fato de o mundo não lhe ter perguntado se queria nascer jamais lhe ocorrera, tampouco. Ou melhor, se isso lhe ocorrera, ele afastara vivamente a ideia. Preferia considerar-se uma “vítima”.
Apesar disso, não era um hipócrita em suas convicções. Era totalmente sincero, fato que aborrecia seu primo, pois Jeremy muitas vezes dizia que o hipócrita que sabe que é hipócrita é menos perigoso do que o homem que não sabe disso e age de acordo. O fato era que Francis era também um rapaz delicado e bondoso, que frequentemente tinha impulsos generosos, embora condicionados por contrações íntimas. Era avarento por natureza e nisso se parecia com seus colegas “humanitários”. Jeremy considerava-o um desastre para o mundo, pois Francis estava mais ou menos convencido, embora secretamente, de que pertencia à elite. Francis achava que a maneira pela qual o mundo estava estabelecido era cruel, bárbara e injusta. Assim sendo, ele nascera para socorrer a humanidade e livrá-la daquilo que considerava injustiça. Não era igualitário, embora afirmasse que o era. No fundo do inconsciente, havia a opinião — que ele partilhava com a sua agremiação — de que “um dia” a sociedade seria reestruturada numa nova hierarquia, com ele e seus irmãos assumindo o controle absoluto.
Nunca ocorrera a Francis ajudar “os explorados” a ter uma nova dimensão da existência, onde pudessem ter oportunidades válidas para progredir e novos horizontes e novos potenciais para exercer seus dons inatos. Quanto a Jeremy, era a favor de dar-se a todos os homens uma oportunidade de usar seus talentos, sem as peias da pobreza, do desespero, de circunstâncias adversas, assim como era a favor de se fazer tudo para aliviar o desamparo desses homens. Francis desejava ajudar “os oprimidos” através de salários melhores, mais comida, habitação adequada e maior lazer. Não lhe ocorria que isso não era uma realização completa, que deixava a alma imortal ainda destituída e insatisfeita. Acreditava que “os explorados” queriam apenas conforto físico. Jeremy, portanto, estava mais próximo do que Francis da esperada libertação da humanidade em relação a uma existência infeliz.
Em resumo, Jeremy se preocupava com toda a humanidade — corpo e alma. Francis se preocupava apenas com os apetites físicos, relegando, assim, os homens à condição de animais domésticos bem-alimentados. (Ele se excluía dessa bestialidade, naturalmente, pois não era de nascimento e educação superiores?) Jeremy acreditava que o mundo ainda não tirara uma vantagem total dos dons do homem. Francis achava que o “proletariado” desejava apenas prazeres mesquinhos, devendo ser punido, naturalmente, se ameaçasse a posição importante e a santidade dele, Francis.
Jeremy desprezava os tolos, os gananciosos, os preguiçosos e os incompetentes; Francis considerava os desajustados “patéticos” e censurava os laboriosos e os independentes que (pensava ele à sua moda vaga, embora apaixonada) eram os “exploradores”.
Essas divergências entre os dois primos eram intransponíveis e, por isso, eles estavam sempre separados, sentindo ódio um do outro, estendendo esse ódio a situações que nada tinham a ver com a filosofia de cada um. O fato de Jeremy ter profundo respeito por tudo o que era verdadeiramente humano e de Francis desejar apenas orientar seu destino para um materialismo dialético — com ele próprio dirigindo esse destino — i ornava-os inimigos irreconciliáveis e afetava suas relações com outras pessoas.
O sombrio conflito atingiu um plano violento quando Francis e a Sra. Jardin deram com Jeremy e Ellen na cozinha. Francis ficara tão entediado com as celebrações do Dia da Independência que alegara estar com “febre”. A Sra. Jardin, que também se sentira caceteada, desejara voltar para a sua querida cozinha. Assim sendo, Francis a levara para casa. (Francis se aborrecera por que não acreditava na Constituição dos Estados Unidos. Considerava-a um “documento para a opressão da humanidade”.)
Francis exclamou:
— Como é que você ousa? Que está fazendo com essa menina inocente?
— Inocente? — gritou a Sra. Jardin. — Essa coisa, essa vagabunda, essa prostituta? Olhem para ela! Toda amarrotada c vermelha, mas não de vergonha, garanto! Ela não tem vergonha. É má, má, desde o dia em que nasceu, e preveni a Sra. Porter, mas...
— Cale a boca! — interrompeu Jeremy. Voltou-se para Francis e seu rosto tinha uma expressão sombria de desprezo e de repugnância. — Que estou fazendo? Estou tentando confortar uma menina infeliz que foi maltratada a vida inteira. Sente-se, Ellen — disse ele, segurando-a pelo braço trêmulo e levando-a para uma cadeira. Sentou-se ao lado dela, pondo-lhe a mão no ombro com ar protetor.
Ellen encolheu-se, desolada e chorando silenciosamente. Começou a enxugar as lágrimas com as costas da mão.
Francis deu um passo em direção a ela, mas Jeremy fechou o punho, em gesto ameaçador. Via-se, pela primeira vez, que ele desejava que o primo avançasse para ele. Francis estacou discretamente, mas seus olhos de um azul claro brilharam de ódio.
— Confortá-la? Seduzi-la é o que quer dizer, não é? Uma criança!
— Idiota — disse Jeremy. — Ela me deixou entrever um pouco de sua vida e tentei consolá-la, enquanto pensava no que poderia fazer por ela. Você está aqui há dias, seu amante da humanidade chorão, mas pensou, por um momento, de que maneira poderia ajudá-la? Aposto que não!
Francis olhou para Ellen. Os cabelos longos da menina caíam como uma cortina à volta de seu rosto úmido.
— Ellen — disse ele com doçura. — Ellen... Este... homem... a machucou?
A menina sacudiu a cabeça. Tinha uma imensa sensação de culpa, causada pelas invectivas da Sra. Jardin, e estava envergonhada, embora não soubesse dizer por quê. Apenas vagamente percebia a desavença entre os dois homens e suas implicações. Acima de tudo, sentia-se degradada.
— Não tenha medo, Ellen — continuou Francis, procurando ignorar a atitude ameaçadora de Jeremy. — Diga a verdade. Ele tentou... Ele lhe pediu para ir até o quarto dele?
Ellen ergueu a cabeça lentamente e olhou-o, perplexa. Depois sacudiu a cabeça e soltou um suspiro profundo.
— Falamos sobre Thoreau — murmurou ela. — Depois fiquei muito triste e comecei a chorar, e ele me abraçou e foi como se... como se... — Não terminou porque não tinha palavras para exprimir a delirante felicidade e o contentamento que experimentara, o apaziguamento da miséria, o nascer da esperança.
— Como se o quê? — perguntou Francis. Mas a menina apenas sacudiu a cabeça, perplexa. — Thoreau! — exclamou Francis. — Garanto que sim! — Olhou para o primo e acrescentou: — Há uma lei para homens como você.
— Gostaria que houvesse também uma lei para homens como você — replicou Jeremy. — Só Deus sabe como o país está necessitando dela. Agora, se sair do caminho, vou levar Ellen para casa e dizer-lhe que tenho para ela um plano que a livrará de pessoas como você.
As sombras entravam pelas janelas; ouviu-se o ruído distante dos primeiros fogos que explodiam no ar em estrelas e serpentinas de várias cores. Mas ninguém na cozinha prestou atenção a isso.
— Você se refere a um de seus bordéis? — perguntou Francis ao primo.
— Se falar desse jeito mais uma vez, irá precisar dos cuidados de seu dentista — disse Jeremy, sorrindo para Francis, com feroz ironia.
Frustrado e trêmulo, o primo replicou:
— Você nega que estivesse tentando seduzir esta menina?
— Não tenho que afirmar nem negar coisa alguma a você — replicou Jeremy. — Quem é você, afinal de contas? — perguntou, começando a acariciar o ombro de Ellen.
— Sou um homem decente, o que você não é. Sei de tudo a seu respeito. Ouvi certas histórias em Harvard. E suas mulheres! ...
— Não seja invejoso, Frank — disse Jeremy. — Tenho os meios que, pelo que ouvi dizer, você não tem. Exceto, talvez, para as travessuras dos gregos antigos.
Francis ficou consternado, e agora sentiu a primeira verdadeira cólera de sua vida. Teve ímpetos de matar.
— Seu bruto desprezível — disse ele, com voz abafada, sentindo-se insultado. — Se eu não tivesse chegado agora, você estaria torturando esta menina...
— Como é que você sabe? Já violou alguma virgem? Ou você mesmo ainda é virgem? Não me admiraria. Ellen querida, pare de chorar e não ouça esta tagarelice indecente. Vou levá-la para casa...
— Eu vou levá-la! — disse Francis. — Não você! Eu não a confiaria a você por um minuto sequer!
Pela primeira vez, Ellen falou claramente, com medo.
— Mas não posso ir para casa! Não posso ir antes de ter sido servida a ceia. Tenho que ficar aqui.
Francis estava num dilema. Percebeu também que estava tom fome. Disse:
— Ellen, depois da ceia vou levá-la para casa. — Virou-se para o primo: — Agora, se você se retirar, Ellen poderá cuidar de seu trabalho.
— Para o seu conforto, Frank — disse Jeremy. — Não é o que sempre acontece com gente do seu tipo? Parafraseando Shakespeare: “Você pode amar e amar e amar e ser um vilão”. Mas não quando isso o incomoda. Deus meu, nada disso. Venha, Ellen.
Desesperada e amedrontada, a menina gritou:
— Não, não posso, Sr. Porter! Não posso. Tenho trabalho a fazer. Preciso do dólar por semana que ganho aqui. Preciso, preciso. Se for para casa agora, a Sra. Porter me despedirá.
— Um dólar por semana e restos de comida — disse Jeremy, pensativo. — Isso é de fato uma vida cheia, não é? Então, Frank? Onde está a sua famosa retórica sobre o “trabalhador explorado”? Ou você não reconhece um trabalhador explorado quando o vê?
— Ela é apenas uma menina e está sendo treinada — replicou Francis, corando vivamente. — Uma aprendiz. — Voltou a atacar o primo sorridente: — Ouvi tudo a seu respeito. Ouvi falar de você e de Alice, aquela infeliz menina que trabalhava nesta casa.
— Que houve com Alice?
— Claro que você sabe.
Jeremy encarou-o, depois atirou a cabeça para trás e riu.
— Ora, seu imbecil! Ouvindo mexericos de cozinha! Nunca pus a mão naquela infeliz menina e nem tive vontade de fazê-lo.
— Alice? — disse Ellen, ainda chorando. — Alice ficou doente e foi despedida.
— E para onde foi ela, Frank — perguntou Jeremy. — Ou você não perguntou, ou não ligou? Mas Alice não pertencia a uma de suas “massas”, não é? Ela não encarava o futuro com um rosto heróico, dirigindo-se para a liberdade e para a vitória, passando por cima do “opressor”, não é? Era apenas uma menina sem lar e faminta, indefesa e solitária, e não merecia o seu maldito amor fraterno, Frank. Ellen, sabe onde está Alice?
A conversa deixara Ellen amedrontada e perplexa, e agora ela havia parado de chorar.
— Não, Sr. Porter. Ouvi dizer que foi para Scranton. Não tinha família aqui e nem em parte alguma, pelo que ouvi dizer.
Jeremy virou-se para o primo.
— Ora, seu verme! Você sabia disso e nunca lhe ofereceu ajuda! Com certeza apenas sacudiu a cabeça tristemente e mudou de assunto. Nunca desejei tanto esmurrar um homem como desejo esmurrar você.
Agora Francis tremia visivelmente.
— Por que você não a ajudou? Ela era sua! — disse ele.
Se Ellen, atenta a seu trabalho, não se tivesse interposto entre os dois homens, Jeremy teria agarrado o primo e o esmurrado. Para dizer a verdade, a menina e Jeremy deram um encontrão um no outro e ela soltou um gritinho desconsolado. Teria caído se Jeremy não a segurasse. Ele olhou para Francis por sobre a cabeça de Ellen e disse, em tom quase alegre:
— Um destes dias, quebro-lhe o pescoço. Eu só desejaria que fosse um pescoço que valesse alguma coisa.
Atordoada por palavras e atitudes que não compreendia, Ellen começou a arrumar a cozinha apressadamente. Dali a momentos, Jeremy principiou a ajudá-la. A menina ficou escandalizada.
— Oh, não, Sr. Porter, isso não está certo.
— Por que não? — perguntou Jeremy. — Comi destes pratos, não comi? A verdade é que não sou aristocrata. Sou um trabalhador robusto, muito satisfeito depois de uma boa refeição. — Olhou para o primo e perguntou: — Você ainda está aqui? Por que não vai para a biblioteca e lê um pouco Karl Marx, seu autor predileto?
— Eu não deixaria esta menina sozinha com você nem por um minuto.
— Ora, ora — disse Jeremy, sacudindo a cabeça. — Não sou nenhum asceta. Prefiro um lugar mais macio do que o chão de uma cozinha, embora você talvez seja diferente.
Ninguém notara a partida precipitada da Sra. Jardin. Correndo, ofegante, ela fora para o parque, onde encontrou May Watson sentada sozinha, como sempre; sua vizinha mais próxima lançava-lhe olhares de desprezo, com risinhos. A Sra. Jardin disse, no ouvido de May:
— É Ellen. Não, não vou contar-lhe. Preciso, encontrar a Sra. Porter. Corra para lá. Não, não vou contar-lhe. Não, ela não está ferida nem doente. Mas talvez fique pior, logo.
Arrastou a outra consigo. O rosto de May estava pálido à luz dos fogos e seus ouvidos estavam atordoados, tanto pelo que ela ouvira como pelo ruído das explosões. As duas encontraram a Sra. Porter e, enquanto May ficava inerte, incrédula, trêmula e horrorizada, a Sra. Jardin informava sua patroa de que “aquela menina, Ellen está... está dando em cima do Sr. Jeremy... Sim, ele está em casa e, se eu e o Sr. Francis não tivéssemos chegado, tudo teria continuado... Oh, é uma vergonha, isso é o que é! Não me pergunte, senhora, o que vi. Não tenho palavras para explicar. Seja como for, não deixarei que uma palavra escape dos meus lábios. Sou cristã, sou uma mulher decente...”
— Mentirosa! — gritou May, perturbada, torcendo as mãos.
— Sou, hem? — disse a Sra. Jardin. Fechou o punho e chegou-o tão perto do rosto de May que esta teve que virar a cabeça. — Nunca, nunca menti em minha vida! Isso é para gente de sua laia e de sua filha suja. Todo mundo sabe que ela é sua filha e não ouse negar isso por mais tempo!
Estava triunfante, de novo ofegante, seu rosto brilhando de satisfação. May estava consternada. Agarrou o braço da Sra. Jardin e todo o seu medo desapareceu. Mas a Sra. Porter disse, friamente:
— Largue-a, May. Vamos todas para minha casa. — Fez um gesto teatral. — Não vou incomodar o prefeito. É horrível, horrível. Jeremy e aquela menina! Oh, eu deveria ter seguido o meu instinto. Sabia, o tempo todo, que ela era má, fingida, mas meu coração generoso...
— A senhora é boa demais, inocente demais para criaturas más como aquela — comentou a Sra. Jardin. As três mulheres caminhavam depressa. May soluçava secamente, desesperada. A Sra. Jardin, andando ao lado da patroa, continuou: — Pobre Sr. Jeremy. A senhora sabe como são os homens, Sra. Porter. Ele não deve ser censurado. Foi aquela criatura, pegando-o, abraçando-o e beijando-o, não o largando, perguntando-lhe... Não, não posso sujar a minha boca.
— Jeremy não disse nada, nada?
— Não, senhora. Ele estava apenas procurando soltar-se e ela o agarrava como uma sanguessuga, ou uma gata de rua.
— Dizer que abriguei em minha casa uma criatura tão vil, tão desavergonhada! Claro que o meu pobre Jeremy não é cego, não é verdade? Ele podia ver o que ela é.
“Oh, Ellen, Ellen”, soluçava May, intimamente. “Oh, meu Deus, que criaturas malvadas são estas duas mulheres!”
Mas a verdade é que ela nunca compreendera Ellen, nem a mãe de Ellen, Mary, pois as duas sempre lhe tinham parecido estranhas, incompreensíveis. Todo o medo que sentira de que Ellen “seguisse o mesmo caminho” de Mary voltou com mais força e ela cambaleou, tentando acompanhar as outras duas. “Fiz o possível”, disse, silenciosamente, para um Deus que não lhe respondia. “Fiz o possível, o melhor possível, para protegê-la e ensiná-la. O melhor possível. Minha pobre Mary, minha pobre Ellen.”
Teve um assomo de ódio e de fúria assassina contra Jeremy Porter. O ruído de fogos era como o eco da tortura em seu coração. Era como se ela se movesse no inferno, empurrando pessoas que a encaravam com bocas e olhos negros, bocas e olhos abertos.
Na cozinha da família Porter, com mãos trêmulas Ellen tentava cortar algumas fatias de presunto. Jeremy tomou-lhe a faca, dizendo:
—, Deixe que eu corte, querida. Você pode acabar de pôr a mesa na sala de jantar para o bando faminto que esteve a empanturrar-se o dia todo. Depois, irei levá-la para casa.
Francis se sentara teimosamente numa cadeira da cozinha e encarava o primo com o ódio que, desde crianças, sempre tinham tido um pelo outro. Jeremy teve vontade de rir da posição de Francis, de firme proteção a uma donzela ameaçada. “Que vá para o inferno”, pensou Jeremy. “Um tolo é um tolo e não há nada que se possa fazer a respeito. Tenho pena do coitado do meu tio, com um filho destes. Francis deveria ter sido filho de meus pais. Os três são do mesmo tipo.”
Olhando o relógio da cozinha, Ellen correu para a sala. Ia e voltava, às vezes tropeçando, tal a sua pressa. Quando deixou cair um pires e ele se quebrou, começou a gemer.
— Oh, eles vão tirar o meu dólar, por isso! Foi o que a Sra. Jardin me disse.
— Claro que não, Ellen — declarou Jeremy, enquanto a menina apanhava os cacos. — Eles são bons, compreensivos, verdadeiros cristãos, com corações que batem de amor pelos pobres.
Ellen recomeçou a chorar.
— Meu dólar! Tia May ia comprar um corte de algodão ramado para fazer para mim um vestido domingueiro. E agora não vou receber o meu dinheiro.
— Não se preocupe, querida — disse Jeremy. — Tome, aqui estão dois dólares.
— Pagamento adiantado, com certeza — observou Francis. — As meninas na posição dela precisam aprender a ter cuidado. Se ela receber dinheiro, será de mim.
Se a Sra. Porter e a cozinheira não tivessem entrado naquele momento, Jeremy teria esmurrado o primo e teria havido uma briga. O olhar da Sra. Porter caiu sobre o filho; ela viu o dinheiro na mão dele e gritou, a princípio não vendo Francis:
— Oh, Jerry, Jerry! A derradeira vergonha! E em minha casa, ainda por cima! — Correu para o filho, tomou-o em seus braços gordos e começou a chorar, enquanto a Sra. Jardin se deliciava, à porta, e May olhava por sobre o ombro dela, incrédula, sentindo um novo desespero. — A Sra. Jardin me contou tudo, tudo! — continuou a Sra. Porter. — Meu pobre Jerry, Jerry, por que é que não nos mandou um telegrama? Tudo isso poderia ter sido evitado.
Jeremy deu-lhe um beijo rápido e impaciente, desvenci-lhando-se em seguida.
— Que é que poderia ter sido “evitado”? Não aconteceu nada, a não ser eu ter ficado entediado em Scranton e voltado para casa. Decidi de repente.
A mãe agarrou-o de novo.
— A Sra. Jardin me contou tudo sobre o que você... e esta criatura desprezível... estavam tentando fazer...
— Você não deu ouvidos a essa cadela, deu? Mamãe, isso é demais, até mesmo para você!
A Sra. Jardin ofegou ante aquele epíteto e começou a chorar alto.
— Dizer que eu, uma boa cristã, iria ouvir isso com meus próprios ouvidos!
Mas a Sra. Porter encarava Ellen com ódio, examinando-a de cima a baixo.
— Saia imediatamente de minha casa, sua vagabunda sem-vergonha, sua prostituta, e nunca mais volte aqui. Faremos com que seja expulsa da cidade, sua atrevida, sua suja!
— Mamãe — disse Jeremy. Agora sua voz indulgente tinha um som tão terrível que a mãe recuou, piscando. — Não fale assim com Ellen. A menina nada fez de errado, a não ser servir meu jantar, porque eu estava com fome. — Os olhos de Jeremy fulminaram a Sra. Porter e não havia neles o menor sinal de afeto.
— Não — interveio Francis. — Ellen não fez nada de mal. Foi o seu filho, tia Agnes, que estava tentando seduzir esta criança.
— Oh, você! — exclamou a Sra. Porter. — Jamais gostei de você. Sempre desconfiei de você, Francis. Sempre foi tão lalso! Claro que tomaria a defesa de uma criatura suja como essa Ellen.
— Tia Agnes, sua opinião a meu respeito não importa — replicou Francis. — Eu também jamais gostei de você. Mas cheguei aqui antes e posso jurar que seu filho estava tentando... violentar... esta criança. Tenho certeza de que cheguei justo a tempo...
— De salvá-la de “um destino pior do que a morte” — interveio Jeremy. — Você faz mal em desprezar minha mãe, Francis. Os dois são do mesmo tipo. Nunca sentiu emoção ao reconhecer uma alma gêmea?
— Isso é intolerável — disse a Sra. Porter, começando a chorar. — Jerry, nunca pensei que chegaria a ouvir de você palavras tão desrespeitosas a respeito de sua própria mãe. Não suporto isso. E tudo por causa dessa miserável, uma criatura que não vale nada, uma prostituta.
May empurrara a Sra. Jardin com desusado vigor e aproximara-se de Ellen, que estivera olhando para a Sra. Porter com ar perplexo, nada compreendendo. A menina passou nos cabelos as mãos trêmulas. Quando May pôs o braço à volta de Ellen, cia se contraiu, como se tivesse levado um tapa. Toda a cor desaparecera de seus lábios e de seu rosto. Ainda tinha nas mãos os cacos do pires quebrado. Segurava-os com tanta força, desde a chegada das duas mulheres, que cortou a mão, de onde escorria sangue.
— Por favor, não tente defendê-la, Jeremy — choramingou a Sra. Porter, lembrando-se da expressão do rosto do filho. — Isso é bem de você, é claro. Mas ela não merece... Tentando fazer com que você... você...
— Quê, mamãe? Que estava Ellen tentando fazer?
A Sra. Porter olhou com ar súplice para a cozinheira, que agora tinha uma expressão taciturna e furtiva.
— Diga a ele, Florrie. Diga o que você mesma viu.
— Sim, diga as suas mentiras! — exclamou May, que estava pálida e com o rosto coberto de transpiração. Seus olhos brilhavam de cólera.
— Já lhe disse, minha senhora — declarou a cozinheira.
— Não quero repetir minhas palavras, aqui na frente de outras pessoas. Mas o que eu vi, vi.
— Demônio desprezível — interveio Jeremy. — Você não viu nada, a não ser que eu estava procurando consolar esta pobre menina, esta menina inocente que não entende nada do que estamos falando.
— O que vi, vi — repetiu teimosamente a Sra. Jardin. Havia duas manchas vermelhas em suas faces e sua expressão não era mais brincalhona. Olhou para Jeremy com animosidade. — Sei como são os homens, senhor. Fui casada duas vezes. É a natureza deles. Quando uma mulher tenta... tenta... Pois bem, o senhor sabe o quê. É a natureza dos homens. Eles não sabem resistir. — Fulminou Francis com o olhar, acrescentando: — O senhor estava aqui comigo, Sr. Francis. Diga-lhes o senhor mesmo.
Francis dirigiu seus olhos de um azul pálido para Agnes, que o fitava com antipatia.
— Ele estava tentando seduzi-la, tia Agnes. Já lhe disse isso antes. Não ouvi o que ele murmurava para a menina, mas tenho certeza de que estava tentando convencê-la a ir para cima com ele.
Jeremy desatou a rir.
— Talvez você não seja tão inocente como pensei que fosse, Frank. E realmente jamais acreditei que tivesse tanta imaginação. Talvez haja esperança para você, afinal de contas, quando crescer e, espiritualmente, usar calça comprida. — Virou-se para a mãe e continuou: — Nada aconteceu, mamãe. Nada teria acontecido. Eu estava apenas tentando consolar esta pobre menina pela vida horrível que ela tem tido... com você e também, provavelmente, com outras pessoas. Este dinheiro aqui?... Ela quebrou um de seus malditos pires e sabia que teria que pagar por ele... com parte do dólar que ganha por semana. Olhe, tome-o. — Jeremy atirou a nota na mesa da cozinha. Qualquer afeição que tivesse tido pela mãe desaparecera.
— Então, não vai pegar o maldito dinheiro?
— Você pode falar com sua mãe desse jeito, Jerry, meu filho? — perguntou a Sra. Porter, escandalizada.
— Posso. Nas circunstâncias atuais, sim, posso. Sinto muito, mas é o que você merece. Depois de levar May e Ellen embora, vou sair desta casa. Irei para um hotel e depois para Nova York. Acho que é o que deveria ter feito há muito tempo.
A Sra. Porter amava, adorava mesmo o filho, e não pôde suportar aquilo. Virou-se para Ellen e deu-lhe uma forte bofetada. A menina cambaleou para trás, levando May junto. A Sra. Porter ergueu de novo a mão, mas May interveio, pondo seu corpo frágil entre as duas.
— Se tocar de novo em minha sobrinha, eu lhe arranco os olhos, Sra. Porter. Pode ficar certa disso! E leve seus vestidos para outra pessoa reformar, quando a senhora ficar gorda demais para usá-los. E não espere que eu volte a sua casa. Eu não sujaria meus pés...
Foi Francis quem interveio severamente.
— Basta, Sra. Watson. Está sendo insolente.
— Sim, realmente — disse Jeremy. — Os verdadeiramente explorados nunca devem revidar. Têm de abaixar a cabeça humildemente diante dos superiores, não é? São as “massas”. Não se metem em “lutas de classes”.
Como intimamente os detestasse a todos, a Sra. Jardin começou a sorrir, um sorriso amarelo. Oh, que coisas teria para contar a seus amigos no dia seguinte!
A cozinha grande estava fervendo de emoções primitivas; o gás chiava e sua luz tremia. May disse a Ellen, com voz insegura:
— Não chore, querida, não chore desse jeito. Ninguém irá machucá-la. Vamos para casa, amor, vamos para casa.
— Para a sua incrível toca! — gritou a Sra. Porter. — Ouvi falar a respeito!
— E eu ouvi falar de seu marido, também — replicou May, com desusada coragem. — Ele e suas visitas a Filadélfia! Visitas às gatinhas, isso sim! A diferença é que a senhora está mentindo e eu não.
A Sra. Porter contraiu os olhos que brilhavam de cólera.
— É melhor que saiam da cidade, vocês duas, May Watson. Se não tiverem saído dentro de alguns dias, serão presas, Iodas as duas, por comportamento imoral.
— Com seu filho por testemunha contra minha sobrinha? — May estava sorrindo, realmente, um sorriso de total desprezo.
— May — disse Francis, com ar de censura. Pela primeira vez na vida a Sra. Porter o olhou com simpatia, apesar de Ioda a sua cólera.
— Muito bem — disse Jeremy. — Antes que esta conversa agradável termine, tenho uma palavra a dizer: May, quero mandar Ellen para uma boa escola. Sei de um pensionato para meninas, em Filadélfia, onde ela será tratada como um ser humano e não como escrava, onde terá roupas boas e comida farta e aprenderá a ser uma dama, o que ela é, realmente. Eu mesmo pagarei por isso.
Todos, na cozinha, estavam atônitos, boquiabertos. Ellen olhou para Jeremy e seu rosto brilhou sob as lágrimas. May gaguejou:
— Por quê, Sr. Porter?
— Porque ela merece mais da vida; só por isso.
Ellen disse, em voz baixa:
— Não posso deixar tia May. Eu nunca deixaria tia May, não por um colégio interno. — Apesar disso, seu rosto suave se contraíra. — Tia May precisa de mim.
— Somos gente pobre e humilde — disse May. — Que é que Ellen iria fazer, depois que saísse da escola?
Francis interrompeu-a.
— Tem toda a razão, May. Tenho outra ideia. Uma irmã de minha mãe, uma senhora maravilhosa, mora em Wheatfield. Ela está precisando de uma boa governanta e de uma empregada. Pagará bem a vocês duas, May, e vocês terão todo o conforto. Ela é muito boa, a tia Hortense. Seu sobrenome é Eccles.
O rosto abatido de May se iluminou.
— Oh, seria maravilhoso, Sr. Francis! Detesto esta cidade. Pensei que aqui seria bom para nós, mas não foi. Quando é que podemos ir?
— Vou mandar um telegrama hoje à noite — respondeu Francis, radiante. — Vocês podem ir depois de amanhã. Gosto muito de minha tia e ela foi como uma mãe para mim. Você não poderia encontrar uma pessoa mais generosa, e ela será como uma mãe para Ellen, também. Basta vocês cumprirem o seu dever.
Ellen estivera ouvindo tudo isso, e somente Jeremy notou seu desespero.
— Falou como um verdadeiro elitista — observou ele. — Deixe que as massas lutem, mas nunca, nunca permita que se elevem, que abandonem sua condição. May, você percebe o que essa oferta significa? Quero uma vida melhor para Ellen. Se você aceitar a proposta de meu primo, Ellen nunca realizará suas potencialidades. Será uma criada para o resto da vida. Você deseja isso?
May não tinha a mínima ideia do que “potencialidades” significava. Tinha apenas lembranças de sua própria vida e da vida da irmã. Além do mais, não tinha confiança em Jeremy, embora confiasse em Francis, que sempre lhe falara com suavidade e gentileza, ao passo que Jeremy tinha “má reputação” e às vezes falava com aspereza. Era só ver a maneira com que se dirigira à mãe... embora ela tivesse merecido aquilo! May licou confusa, por um momento. Acreditou também que, se "Deus” não tivesse intervindo, Jeremy se teria “aproveitado” de Ellen.
Ela respondeu com firmeza:
— Sou tutora de Ellen, de modo que devo decidir por nós duas. Obrigada, Sr. Francis. Aceitamos sua oferta e sairemos desta cidade para sempre. Jamais gostei daqui. — Olhou de relance para Jeremy e continuou: — Somos criadas, senhor, c* não temos vergonha disso. O trabalho não é vergonha, contanto que seja honesto. Depois de treinada, Ellen será uma boa empregada. Já é boa. Eu lhe ensinarei a cozinhar bem. Ser criada não é ruim. — Virou-se para a sobrinha: — Ellen, já é tarde. Vamos para casa.
Ellen voltou-se para Jeremy com uma expressão tão infeliz, tão cheia de anseios e de desejos, que ele se adiantou para ela, empurrando a mãe. Mas May pegou a mão da menina e tirou-a da cozinha, da casa.
Jeremy não dormiu naquela noite. Recusara-se a dar ouvidos às admoestações um tanto histéricas do pai. Notara a expressão compreensiva de tio Walter e dera-lhe uma piscadela afetuosa. Não enfrentara mais a mãe, não falara mais com Francis. Acabara com todos eles, com a possível exceção de tio Walter.
Enquanto se revirava na cama, Jeremy só tinha um pensamento. Nunca deixaria que Ellen fugisse. Quando ela tivesse Idade suficiente, ele a salvaria. Isso levaria três ou quatro unos... mas não permitiria que ela fugisse.
— Por que está chorando, Ellen? — perguntou May, na noite seguinte, quando se preparava para dormir. — Que coisa maravilhosa nos aconteceu! Você deveria ajoelhar-se e agradecer a Deus. Ellen? ...
A menina ficou calada.
— E o Sr. Francis vai pagar nossas passagens! Um rapaz tão bom, um verdadeiro santo. Pensar no que está fazendo por nós, apenas duas criadas na casa da tia dele, embora eu seja também costureira. Ellen?...
Como a menina não respondesse, a tia continuou, vestindo a camisola limpa, embora rota:
— Sair desta cidade! Para sempre! O Sr. Francis acha que a sua tia Hortense me pagará oito dólares por mês e quatro dólares a você. É uma fortuna! Poderemos guardar dinheiro, porque não teremos que comprar comida.
Fez uma pausa. Depois prosseguiu:
— Vou vender esta mobília, amanhã. Mas, Ellen, você precisa parar de ler livros. Eles podem enfraquecer o espírito de uma mulher. Além do mais, a Sra. Eccles não iria gostar. Você precisa criar juízo, Ellen. Amanhã vou ferver sementes de nogueira preta e lavar seu cabelo nessa água, para amenizar essa cor. Aí, talvez você fique quase bonita.
Interrompeu-se de novo, corando levemente.
— Diga-me a verdade, Ellen. Temos o mesmo sangue. Aquele homem... aquele homem mau... tocou-a... ali?
O rosto pálido de Ellen ficou rubro.
— Tia May! Não! Ele apenas me beijou.
May inclinou a cabeça, com ar sombrio.
— Ele teria feito pior, se Deus não estivesse vigiando.
Ellen foi para a cama. A vergonha e a sensação de culpa que sentira durante tanto tempo a dominaram de novo. Chorou nessa noite, assim como chorara durante toda a noite anterior.
O pior de tudo era o desejo agudo e terrível por Jeremy, pelo toque de suas mãos, pelo contato de seus lábios. Ela nunca mais o veria. O Sr. Francis prometera à tia May que “cuidaria disso” e que iria escrever à sua tia, “prevenindo-a”.
Nunca mais ver Jeremy Porter, nunca mais. Seria insuportável. Ellen mordeu o travesseiro para abafar os gemidos. Por um breve momento ela vira de relance outra vida, outra dimensão, uma maravilhosa esperança, um amor devastador.
Tudo terminara. Talvez fosse só o que ela merecia, pensou. De certo modo, esquecera-se de “amar e confiar”. Mas não sabia de que modo. Sabia apenas que estava sendo castigada.
Capítulo 7
Walter Porter olhou à volta, na suíte de Jeremy, no Waldorf Astoria.
— Sim, você se arranjou bem, Jerry — disse, com expressão satisfeita. — Nunca venho aqui sem ter uma sólida sensação de prazer e de uma certa segurança.
— Faz quase um ano que você não vem aqui — replicou Jeremy. — Isso é muito tempo para se privar de um “prazer e de uma certa segurança”. Por que não vem mais vezes?
A expressão do rosto de Walter mudou. Ele pareceu mais velho. Estava mais pesado, o rosto quadrado e rubicundo mais sóbrio; os cabelos brancos tinham se tornado mais ralos naqueles quatro anos. Suas mãos, em contraste com o corpo pesadão, eram pequenas, pálidas e elegantes. Como também os pés. Parecia-se muito com o pai de Jeremy, mas, embora o prefeito tivesse um ar velhaco, Walter tinha uma aparência de integridade e de sinceridade. Seus olhos tinham uma franqueza inocente, não a doçura fingida de um político.
Respondeu a Jeremy com uma pergunta:
— Por que é que você não vê seus pais mais frequentemente ou, pelo menos, não os convida a virem visitá-lo?
— Já lhe disse. Posso aguentá-los até certo ponto. Por exemplo, eles são a favor de William Jennings Bryan, embora as ideias dele sejam absolutamente contrárias ao que eles são in-Irinsecamente. Acham que, pelo fato de concordar com ele e elogiar suas ideias populistas, dão a essas ideias um certo estilo, uma certa tolerância. Exibem-se como “bons”. Oh, sei que meu pai é um político e tem que fingir que treme como geleia, devido â sua solicitude pelo povo, e que minha mãe quer ter a fama, entre suas amigas, de ser uma dama cheia de sensibilidade e de compaixão cristã. Mas agora eles estão começando a levar a sério sua hipocrisia pública e é isso o que me enoja. O hipócrita que, no íntimo, sabe que é hipócrita em geral é um velhaco simpático e a gente pode sorrir com ele. Mas o hipócrita que acredita em sua própria propaganda é desprezível. Se seu fingimento mudasse a sua patifaria intrínseca, não seria tão mau. Mas meus pais ainda são, no íntimo, as pessoas cobiçosas e exigentes que sempre foram. Ainda são arrogantes e gananciosos... Que aconteceu? Eu disse algo que lhe desagradou, lio Walter?
— Não. Não é isso, Jerry. Estou pensando em uma coisa... em alguém. Arrogância. Sim. Mas é engraçado. A arrogância não é um pecado apenas dos astuciosos e dos hipócritas. É também o pecado daqueles que se dizem humanitários: é o seu crime habitual. Atrás dele está o antigo desejo de poder, o muito perigoso desejo de dominar os outros.
Levantou-se, com sua barriga saliente, dirigindo-se lentamente para uma das janelas grandes e curvas cobertas de renda e veludo. Puxou a cortina para um lado e seus olhos percorreram a Fifth Avenue até as mansões brancas e cinza dos muito ricos, com suas portas de bronze polido, seus pequenos gramados verdes brilhando ao calor do verão, cercados por grades de ferro trabalhado. A avenida estava repleta de carruagens, de carretas e até mesmo de homens montados em belos cavalos, encalorados sob o céu límpido e o sol ardente. Ele viu as torres das igrejas distantes, que ainda eram os pontos mais altos de Nova York. Sem se voltar, disse:
— Você não se alistou na Guerra das Filipinas, Jerry.
— Não. E não foi pelos motivos que fizeram com que seu filho Francis se opusesse a ela. Francis pôde apenas falar, desculpe-me, tio Walter, sobre os “lucros da guerra e sobre o imperialismo”. Mas sei, e creio que você também sabe, o que estava por detrás do episódio mais vergonhoso, até agora, da história da América. Eu disse: até agora. Mas sabemos que faz parte da conspiração da elite internacional, que pretende consolidar o mundo sob seu controle e sujeição. Admira-me que Frank não soubesse disso, também, considerando-se que ele, ostensivamente, pertence a essa elite. Mas a verdade é que Frank sempre foi um inocente, e não há nada mais perigoso do que um inocente que faz parte de uma conspiração de homens que não são nada inocentes.
— Eles recrutam e usam homens como meu filho, para dar-lhes uma fachada de respeitabilidade e de nobreza.
— Não duvido. Para dizer a verdade, sei disso. Você tentou esclarecer Frank?
— Centenas de vezes. Não adianta, Jerry. Ele não pode, não quer acreditar que homens que empregam as palavras elevadas e etéreas que ele emprega sejam sinistros e usem a própria aparência de preocupação desinteressada para iludir os outros e para servir a seus próprios interesses. Parece que Francis pensa que o emprego de seus próprios termos e a aparência honrada que ele tem são credenciais de magnanimidade e de amor à humanidade, e que isso não poderia ser usado por assassinos, verdadeiros imperialistas e senhores de escravos em potencial.
“Mesmo assim, à sua maneira pretensiosa, Frank é realmente um deles, embora não tenha inteligência para compreender o que tudo isso significa”, pensou Jeremy. Disse:
— Tio Walter, Frank acredita também num governo universal, sob o controle da elite. “O Parlamento do Fíomem”, conforme diz Tennyson. E Tennyson foi chamado, pelos seus pares mais eminentes, de homem estúpido, embora reconheçam o lirismo de sua poesia e a pureza de seus ideais. A única diferença entre Frank e os conspiradores poderosos é a informação e, sinto dizê-lo, a inteligência. Tenho certeza de que, se Frank compreendesse isso realmente, ficaria tão consternado quanto nós.
Walter disse, pensativo:
— Não é estranho que os ideais mais nobres possam também ser os mais perigosos? Creio que alguém chamou a isso “um excesso de virtude”. Fanatismo. É esse o mal. Lembre-se do que Talleyrand disse, no Congresso de Viena: “Nada de lanatismo, senhores, pelo amor de Deus, nada de fanatismo!” Sim. Os fanáticos não podem ser derrubados facilmente, porque acreditam. “Crentes verdadeiros.” Com denúncia e esclarecimento públicos, os conspiradores cínicos, que não são fanáticos, poderiam ser facilmente derrubados. Sim. Você pode ver por que motivo usam homens como Francis. Talvez esses homens tenham inventado as frases sonoras que os conspiradores adotaram. Pois bem, que Deus nos ajude, é só o que posso dizer. — Walter acrescentou: — Estou contente por não ser nem um dia mais moço. Não posso suportar a ideia do que vai acontecer ao meu país num futuro próximo.
— A única esperança é que, com o tempo, o povo americano perceba isso, tio Walter.
Mas Walter sacudiu a cabeça.
— Não há esperança, Jerry, não há esperança. As pessoas podem compreender as guerras e lhes fazer oposição. Mas, quando se trata de chavões elevados, não.
— Pois bem, a Corte Suprema dos Estados Unidos declarou inconstitucional o imposto de renda federal, tio Walter, apesar de toda a retórica a favor dele e de todos os apelos dos homens maus feitos às emoções do povo americano. Assim sendo, talvez possamos ter um pouco de fé naquilo que é chamado de bom senso do cidadão americano médio.
Walter sacudiu a cabeça e afastou-se lentamente da janela.
— Desde quando o bom senso triunfou sobre a cobiça e a inveja? O bom senso chegou tarde ao espírito da humanidade, mas a cobiça e a inveja são intrínsecas à natureza humana. Isso é primitivo. Não, não há esperança.
— Tome um uísque com soda — disse Jeremy. — “Coma, beba e fique alegre, pois amanhã morreremos.”
Walter sorriu sombriamente e pegou o copo. Suspirou, depois olhou à volta da espaçosa suíte, como que à procura de consolo. Todos os seis aposentos haviam sido mobiliados pelo próprio Jeremy, com o refinamento e a graça do estilo Luís XV: cadeiras e mesas lindas, brilhantes e serenas, estofadas em tons claros de amarelo, verde e rosa; sofás elegantes e leves; pedestais de mármore com delicadas estátuas de bronze. Os quadros eram poucos, mas de bom gosto: Van Gogh, Manet, Monet e outros igualmente célebres. Havia também armários de desenhos chineses, complicados e bonitos, em preto e vermelho, cheios de objetos de arte que Jeremy colecionara em suas viagens pelo mundo inteiro. O sorriso de Walter tornou-se menos sombrio. Ele olhou para o sobrinho e pensou: “Jeremy parece um estivador, um homem rude, como dizem, e, no entanto, tem o discernimento que Francis, por incrível que se nos afigure, não tem. Parece que a natureza não acredita em estereótipos. Sim, é isso”.
Um raio de sol entrou pela janela do salão, no lado oeste, dando relevo e brilho à parede de damasco rosa. Walter dava impressão de estar examinando-a, mas não estava.
— Confesso que fiquei admirado quando, finalmente, você se resolveu a estudar direito, assim como administração de empresas, Jerry. Você nunca me disse qual o motivo.
— Oh, talvez eu entre para a política. Estudei direito internacional, sabe?... não apenas direito comercial, civil e criminal. Quem sabe lá? Talvez eu acabe fazendo parte do Supremo Tribunal. — Jeremy riu, ao dizer isso.
— Francis também tem a mesma ideia.
— Pois bem, se for apenas uma questão de “a corrida para os velozes e o combate para os fortes”, chegarei lá primeiro. Desculpe-me, tio Walter.
Jeremy também mudara naqueles últimos quatro anos. Estava mais magro e mais tenso; as viagens tinham tornado seu rosto moreno ainda mais escuro. As rugas eram novas e definidas e ele dava a impressão de ter mais do que os seus vinte e sete anos. O corpo ainda era o corpo vigoroso de um atleta e ele o tratava como um instrumento que deveria ser conservado limpo e em forma. Seu cabelo preto estava cortado mais curto; os olhos eram menos alegres quando ele ria ou pilheriava, embora tivessem a antiga agudeza e a expressão cética e desiludida.
— Sua empresa está ganhando dinheiro? — perguntou Walter, homem de negócios e industrial.
— Babock, Smith and Kellog? Claro que está. Comenta-se que pretendem fazer-me sócio... um dia destes. Como vão seus negócios, tio?
— Não muito bem, Jerry, não muito bem. Acho que vai haver uma crise. A crise sempre se sucede às guerras, não é? A próxima já está a caminho. Não lhe dou mais que três ou quatro anos para chegar. Mas todos nós já estamos sentindo o mal-estar c a dúvida que precedem a crise. Bryan e seus gritos para que desistamos do padrão-ouro! O idiota não sabe que, quando isso acontece num país, o governo emite papel-moeda que não tem valor intrínseco e que nos está levando a uma inflação desastrosa e a um colapso econômico. Mas não se pode convencer um lanático. Bryan é também um dos seus inocentes, Jerry.
— Há uma esperança. Teddy Roosevelt, nosso presidente, não é fanático, exceto quanto a guerras, e não é nada inocente.
Walter disse, de repente:
— Gostaria que você fosse meu filho, Jerry.
— E eu gostaria que você fosse meu pai, tio Walter. Frank é mais do gosto de meus pais. Por falar nisso, meu pai nunca se conformou de não ter sido indicado para o Senado pela legislatura da Pensilvânia. Agora é a favor da eleição direta dos senadores pelo povo e está trabalhando pela aprovação de uma emenda à Constituição nesse sentido, e de uma emenda a favor do imposto de renda federal.
— E atrás disso estão os conspiradores internacionais, como você sabe, Jerry. Eles sabem que essas emendas, se incorporadas à Constituição, significarão o fim da América como país livre e soberano. A América se tornará parte do “Parlamento do Homem” que eles desejam e será apenas mais uma nação escravizada, falida e dependente de seus senhores. Muito bem, mudemos de assunto. Este é deprimente e sei que você quer ter notícias daquela menina, Ellen Watson.
Jerry olhou para dentro de seu copo.
— Sei de muitas coisas. Contratei detetives, que vão frequentemente a Wheatfield. Mas só o que pude saber com certeza é que está bem, mais bonita que nunca, aparentemente satisfeita com seu trabalho de criada e que se veste, conforme me disseram, de acordo com sua condição. Isso significa pobremente embora decentemente, de modo por demais discreto e modesto. Apropriado à sua classe, diria Francis. Sei aonde vai em seus passeios a pé, nas horas de folga, que dependem da vontade da patroa. E isso não é frequente.
Walter fez uma pausa e continuou:
— Pois bem. Minha cunhada, Hortense Eccles, é realmente uma boa mulher, Jerry. Muito inteligente e esperta. Desde que ficou viúva, tomou muito bem conta dos negócios do marido, aumentando consideravelmente sua fortuna. É respeitada por corretores e banqueiros. Sabe como aplicar seu dinheiro, pode crer-me. Aconselhou-me sobre alguns investimentos. Segui seus palpites, e esses investimentos são os únicos que me estão dando dividendos substanciais. Às vezes é bondosa e creio que se interessa realmente por Ellen, isto é, por fazer dela uma empregada competente. E Ellen se tornou exatamente isso. Desde que sua tia, May Watson, foi atacada de artrite, coitada, ficando na cama a maior parte do tempo, Ellen assumiu a responsabilidade da casa, com exceção da cozinha, que continua a cargo de May. Sim, ela é de fato uma empregada competente.
— Ora, não é mesmo uma beleza — observou Jerry, com uma expressão dura no rosto. — Uma menina como Ellen... uma criada!
— Nunca lhe contei, Jerry, mas, quando eu era moço, tinha um amigo, John Widdimer, de Filadélfia, de uma família muito boa. Seu pai se casara com uma moça bonita, uma tal Amy Sheldon, de família ainda mais distinta do que a de Widdimer. Ela morreu quando John era muito criança. Há um retrato dela, em moça, na sala de visitas da casa da família Widdimer. Ellen se parece extraordinariamente com a moça do retrato. Fiquei impressionado com isso quando a vi pela primeira vez; até mesmo seu pai, Jerry, que não tem muita imaginação, ficou surpreso. Fico muitas vezes imaginando...
— A semelhança poderia ser coincidência — observou Jerry, que, mesmo assim, estava interessado.
— Não sei. Se fosse um tipo comum de beleza, o padrão de beleza aceito... e não é esse o caso... eu acreditaria numa coincidência. Mas quantas vezes encontramos cabelos como os de Ellen e de Amy, olhos com aquele brilho e colorido e semelhante contorno de rosto e de lábios? Amy era alta e Ellen também. Até mesmo o corpo é igual. As mãos, o colo, os ombros, tudo. E a expressão ingênua, a doçura; a inocência, acima de tudo. O pai de John dizia que Amy acreditava em tudo o que ouvia e que era um espírito muito caridoso. Um anjo, dizia ele. Inocente como um cordeirinho. E muito inteligente, o que é quase inacreditável num inocente. Nunca vi ninguém como Amy, isto é, como o seu retrato, exceto Ellen. Sabe de uma coisa? Havia muita gente que não achava Amy uma beleza; muitos a achavam mesmo nada bonita.
— Hum... Fale-me mais sobre o seu amigo John.
— Pois bem, ele era um mulherengo. Como você, Jerry. — Walter riu. — Um mulherengo discreto. Nada de mulheres vulgares. Então, talvez...
— Se ele era tão exigente, como é que pôde envolver-se com uma criada? Isto é, se Ellen for sua filha, no que não creio. May Watson é uma criada. Sua irmã, portanto, deve também ler sido uma. Preciso investigar isso. Mas ouvi dizer, não sei onde, talvez dito por minha mãe, que Ellen nasceu em Erie, assim como May, de modo que, aparentemente, a irmã de May também nasceu lá. Gente muito humilde, para citar Frank.
— A mãe de Ellen poderia ter sido uma criada em casa da família Widdimer. E, se ela tivesse sido bonita, meiga e suficientemente inteligente, John não a teria rejeitado por tratar-se de uma criada. Por falar nisso, ele nunca se casou. E tinha pelo menos trinta e oito anos quando foi morto por um cavalo. Não sei.
— Vou investigar — disse Jeremy. — Seria, no mínimo, interessante. Por falar nisso, Frank vê muito Ellen?
— Frequentemente. Talvez de dois em dois meses. Mas não o faz pensando numa união — disse Walter, rindo, mas sem alegria. — Puramente altruísta, pelo que me diz ele. Con-lou-me também, com ar de aprovação, que Ellen se tornou uma criada competente, de confiança e respeitada.
— Claro que ele acha isso ótimo — observou Jeremy. Sua expressão mudou perigosamente. — Eu queria mandar Ellen para a escola, para que realizasse suas potencialidades como uma dama, uma senhora educada. Depois eu pretendia casar-me com ela.
— Não! — exclamou Walter, admirado.
Jeremy inclinou a cabeça.
— Ainda tenho essa intenção. Isto é, se Frank não a agarrar para a sua cozinha, antes que eu possa fazer o que desejo. Ide ainda não pensa em casar-se?
— Não, embora tenha agora sua própria casa, em Scranton. Nós dois brigávamos demais. É uma casa muito modesta, embora ele tenha uma boa fortuna, da qual gasta bem pouco. — Walter interrompeu-se e sua expressão de novo se tornou sombria. — Eu lhe contei que ele se juntou àquela sociedade marxista, a “Liga dos Homens Justos”?
— Não, não me contou. Mas isso é bem dele, não é? Os conspiradores internacionais, a “elite”, não são marxistas. Apenas usam algumas ideias de Marx, e estão tentando atrair mais países para o socialismo em seu próprio interesse. — Jerry levantou-se. — Vou me casar com Ellen, e logo, mesmo que ela se tenha esquecido de mim, o que duvido. Por falar nisso, como é a casa de Frank?
— Muito modesta, conforme lhe disse. Você não acreditaria, mas foi mobiliada com peças avulsas, algumas de segunda mão, e não me refiro a antiguidades. Muito simples.
— Quer dizer: “barata”.
— Pois bem, sim. Sirva-me de novo, Jerry. Eu gostaria que você fosse meu filho. — Acrescentou: — Sabe, Francis vai indo muito bem como advogado. E ele cobra bastante. Até mesmo de seus queridos “pobres”.
A casa dos Eccles, em Wheatfield, embora não fosse a mansão que sua dona acreditava que fosse, era uma casa quadrada, em estilo georgiano, de pedra amarela. Casa pesada, sombria, tendo na frente quatro pilares brancos de onde saíam quatro escadas largas que levavam a duas portas de carvalho. Tinha janelas pequenas e muitos quartos. O terceiro andar era reservado aos criados, isto é, a May Watson e a sua sobrinha Ellen. O jardim era simples e a grama parecia cortada a tesoura. A mobília da casa era quase tão pesada quanto a da residência da família Porter, embora fosse mais cara. As cortinas eram grossas, em azul-marinho e marrom. As dependências dos empregados eram pobremente mobiliadas, contendo apenas o necessário, pois a Sra. Eccles (assim como o seu pastor) não acreditava em “mimar as classes inferiores”. Isso estragava a disciplina, e a Sra. Eccles acreditava em disciplina para os outros, embora não para ela. Era uma mulher baixa e gorda, de rosto redondo, olhos castanhos e astuciosos, cabelos castanhos e macios. Era muito elegante. Sabia, no íntimo, que fizera um bom negócio tomando May Watson a seu serviço, pois May não somente era uma excelente cozinheira quando podia arrastar-se até a cozinha, como também uma boa costureira. Assim, a Sra. Eccles resolvera, apesar de não gostar de “corromper” a “classe dos empregados domésticos”, dar a May um dólar extra por mês, para cada um dos quatro anos nos quais ela a servira. Dava também a Ellen um dólar extra por mês, aconselhando-as a fazer economia.
Apesar disso, a maior parte do tempo era uma mulher justa. Elogiava um prato especialmente bom, e às vezes sorria docemente para Ellen, embora frequentemente deplorasse os cabelos e a altura da menina. (“Precisamos fazer com que se conservem humildes, por amor à sua alma.”) De vez em quando, demonstrava solicitude em relação a May e às suas dores, e uma vez chegou a chamar seu próprio médico para examinar a empregada. “Mas precisamos ser fortes, querida”, dizia ela a May. “Não podemos entregar os pontos. Seria fraqueza.” A Sra. Eccles sempre “entregava os pontos” quando se tratava de seu apetite, e comia o dobro do que comiam suas empregadas. Em todo caso, não as obrigava a comer os restos de suas refeições. À sua moda parcialmente tolerante, era rigorosa. Nada deveria ficar em desordem, e examinava a casa regularmente, para ver se o pó fora tirado, e uma vez por semana inspecionava também as dependências das empregadas. No Natal, dava dois dólares a May e um a Ellen. May achava sua patroa uma verdadeira rainha, elogiando-a constantemente diante da sobrinha.
Desde que May começara a sofrer de artrite (“Não posso despedir a coitada”, dizia a Sra. Eccles às suas amigas e admira-doras), o peso de manter a casa limpa e em ordem caíra sobre Ellen. Às vezes, com sacrifício, May se arrastava até a cozinha para fazer o jantar ou ensinar à sobrinha a arte culinária e aconselhá-la a ser grata pelos “belos quartos que temos” e a respeitar a patroa. Pois a Sra. Eccles não insistia em que Ellen fosse à igreja todos os domingos e estudasse diariamente um capítulo da Bíblia? Sim. Não deixava na mesa-de-cabeceira das duas, regularmente, panfletos de um tipo muito evangelista? Sim. A patroa se interessava pela salvação das duas, preocupan-do-se com sua alma imortal. A Sra. Eccles era uma exímia pianista e tocava sempre, cantando com uma voz trêmula e cheia de sensibilidade. A duas se ajoelhavam à soleira, quando a Sra. Eccles se ajoelhava na sala e pedia a Deus que abençoasse seu lar “e todos os que nele se achavam”. Em “todos” estavam incluídos seus quatro gatos, que ela amava, sendo uma viúva sem filhos.
May achava isso uma prova de grande bondade. “Comparada à Sra. Porter, a Sra. Eccles é uma santa, um anjo, Ellen. Deveríamos agradecer a Deus a nossa sorte, todas as horas.” Naquele último ano, às vezes May ficava preocupada com Ellen, pois a jovem não fazia comentário algum. Isso se devia, em parte, à sua exaustão. Sua única recreação era uma hora de folga, ou talvez duas, para ir a pé até um parquezinho bonito perto da casa, ou ouvir, furtivamente, as sonatas que a Sra. Eccles tocava na sala. Ela se aproximava de mansinho da porta do aposento grande e atulhado, para ouvi-la, lembrando-se do que Thoreau dissera a respeito da música, de sua tranquilidade que unia o passado ao presente e ao futuro e levava a alma a um estado de êxtase. Às vezes, à noite, quando May estava dormindo — depois de ter tomado um chá de camomila quente, para suas dores —, Ellen descia sorrateiramente para a biblioteca, com uma vela na mão, para examinar a ótima biblioteca que o Sr. Eccles deixara. Velava a luz com a mão e entrava num mundo diferente, de magnificência e nobreza.
Além disso, a menina de dezessete anos não tinha nenhum prazer, nenhuma vazão para suas paixões nascentes, nem para os vagos anseios e a tristeza que jamais a deixavam. Certa vez a Sra. Eccles lhe dissera, com uma bondosa severidade:
— Sabe, minha querida, não permito que minhas dependentes tenham acompanhantes e você deveria ser grata por isso. Mas não se esqueça!
Ellen finalmente descobrira que “acompanhantes” queria dizer rapazes. Ela corara e dissera, com veemência:
— Não precisa ter medo, senhora!
A patroa sorrira, satisfeita. Tinha medo de perder Ellen, a melhor empregada que jamais tivera, mas não se esquecia de que os “inferiores” tinham maus instintos e poderiam ter rebentos sem a “bênção da Igreja”. Eram também “avoados”. Ela costumava dizer às amigas:
— Protejo a modéstia, o decoro e a moral de minhas dependentes, como faço comigo mesma. Ellen é apenas uma empregada jovem, mas convenci-a de que não deve fazer nada que a possa diminuir e que o dever sempre vem antes do prazer, assim como uma vida cristã deve vir antes da satisfação pessoal!
Tinha também outro receio, isto é, que suas amigas, observando Ellen, notando-lhe a habilidade e a graça no servir, a pronta obediência, quisessem tirá-la da casa. Assim, um dia disse a Ellen:
— Querida, gosto de você como se fosse minha filha, e acho que sabe disso, e quero preveni-la de que não se deixe tentar por falsas promessas por parte de... outras pessoas... e nem seja atraída por lucros sujos. Você sabe que a Bíblia nos aconselha a não pôr mammon antes de Deus.
Isso deixara Ellen perplexa e ela respondera apenas com um encolher de ombros, hábito recente que aborrecia a Sra. Eccles. Ellen procurara aquela frase na Bíblia e rira consigo mesma. Intimamente se dizia que a Sra. Eccles servia assiduamente a mammon; depois se arrependeu desse pensamento. Mas, frequentemente, achava difícil aplicar à Sra. Eccles as palavras “amar e confiar”:
Todos os sonhos de Ellen, tristes e repletos de angustiantes anseios, se concentravam em Jeremy Porter. Apesar de May, pelo menos uma vez por semana, lhe dizer que ela realmente escapara de um destino pior do que a morte, em casa da Sra.
Porter, e que somente Deus a salvara, graças à Sua infinita bondade e misericórdia.
— Esses homens são como as aves de rapina das quais fala a Bíblia, como Satanás, à procura de quem possam devorar, Ellen. Que sujeito mau ele é, que canalha, homem sem consciência por tentar... pois bem, você sabe a que me refiro.
Fora nos dois últimos anos que Ellen compreendera o que May sugerira, e ainda sugeria, e ficara envergonhada. Apesar disso, a vergonha não apaziguava sua fome, às vezes insuportável, de ver Jeremy, de ter notícias dele. A lembrança daqueles poucos momentos na cozinha da família Porter, mais vivida a cada dia, era suficiente para fazer com que chorasse à noite, na cama. Agora ela conhecia o significado do seu jardim de fantasias e sabia por quem estivera esperando quando caminhara por entre as árvores envoltas em neblina, sentindo um perfume de rosas, com uma.flor na mão. Mas tudo aquilo se fora; nada mais havia para ela, a não ser as reminiscências e o trabalho. Às vezes, consumida por uma paixão amorfa que não compreendia, mas que crescia a cada dia, Ellen sentia revolta e dor, agudas, mas sem nome. Sempre se arrependia disso. Deus ordenara que assim fosse; ela teria que se contentar com o seu quinhão. Tal pensamento jamais fazia com que suas lágrimas secassem. Ultimamente, com frequência, tinha sonhos eróticos e deliciosos com Jeremy — embora tais sonhos, devido à sua inocência, jamais se tornassem específicos —, e virava e revirava na cama estreita, excitada e extasiada. Ao acordar, ofegante e coberta de transpiração, saía da cama e ajoelhava-se, pedindo perdão a Deus, indo depois lavar em água fria o colo e o rosto ruborizado. Tais sonhos eram maus, embora ela não pudesse controlá-los. Apesar disso, nunca rezava para se ver livre deles. Se fosse mais experiente, teria imaginado por quê.
Francis Porter, favorito de sua tia e por ela amado como um filho (ela o fizera seu herdeiro), vinha pelo menos uma vez por mês, no fim de semana, visitar a Sra. Eccles e ver como Ellen ia progredindo. Era bondoso e gentil com a moça. Elogiava a comida de May e também a maneira de Ellen cozinhar e limpar a casa. Nunca era condescendente demais e gostava sinceramente dela. Só depois de algum tempo foi que percebeu que a amava. Até então, não chegara a essa perturbadora conclusão. Sabia apenas que se sentia bem e confortado quando a via, que se encantava com sua presença. Seguia-a com os olhos e achava que, quando ela se retirava, o aposento ficava mais frio e mais escuro. No último Natal, trouxera-lhe um par de luvas de pelica preta, o primeiro que Ellen jamais possuíra. Ela ficara encantada com tal gentileza. Mas estava se tornando tímida com ele, não apenas por lembrar-se daquela noite em casa da Sra. Porter, como também por ver que Francis se tornava mais austero, mais abstrato, mais tenso, a cada visita que fazia à tia. Às vezes falava com brusquidão, e uma expressão contrariada sombreava sua fisionomia franca. Muitas vezes ele parecia reservado e desconfiado, o que somente Ellen percebia. Isso a deixava perplexa.
A Sra. Eccles sempre o arreliava por ainda estar solteiro. “Afinal de contas, querido, você está com vinte e seis anos e deveria pensar numa mulher que lhe convenha, de acordo com suas expectativas. Nenhuma jovem o atraiu, até agora?” Muitas vezes Francis achava que o casamento seria desejável, se a moça tivesse fortuna própria. Então ele poderia tomar Ellen como governante de sua casa. Tia Hortense não lhe negaria isso. Quando ele se achava em Wheatfield, a ideia de ver Ellen em sua casa lhe ocorria com frequência e ele sorria alegremente para a jovem. Nessas ocasiões, as nuvens que ultimamente lhe sombreavam o rosto desapareciam e ele voltava a ser o bonito rapaz louro, vivo e até mesmo afetuoso de antes. May Watson o adorava abertamente. Francis sempre indagava sobre sua saúde, condoendo-se de suas dores e cumprimentando-a pela maneira com que educava a sobrinha. May lhe agradecia fervorosamente, inúmeras vezes, pelo que fizera por ela e por Ellen, e isso invariavelmente o tornava expansivo, aumentando sua auto-estima.
Francis se esquecera de que em certa época achara o rosto de Ellen nobre e aristocrático. Se esse pensamento agora lhe ocorria, afastava-o imediatamente, pois não era crível que uma jovem da condição dela fosse outra coisa além do que obviamente era: uma doméstica. Para ele, os criados não eram “trabalhadores”. Não faziam parte das “massas trabalhadoras que lutavam para se libertar”. Essa tênue distinção nunca deixava de fazer com que seu pai o encarasse com um sorriso de incredulidade, misto de ironia. Walter reconhecia que Francis era intrinsecamente bom, embora incoerente. Parecia-se muito com sua tia, Hortense, que dava de bom grado dinheiro às missões e se preocupava sinceramente com Ellen, embora nunca achasse que a moça era de carne e osso e que, muitas vezes, chegava ao ponto de um colapso, devido ao trabalho árduo que fazia.
Walter muitas vezes achava que o conceito do filho sobre “trabalho” era pueril. Francis nunca soubera realmente o que era “trabalho”. Nunca encontrara um trabalhador. O pai tinha esperança de que, quando fosse advogado e encontrasse pessoas de classe diferente, o rapaz recobrasse “a razão”. Mas os clientes de Francis eram apenas pobres: auxiliares de escritório, bancários, balconistas, donos de açougues e de mercearias. Não eram “trabalhadores”. Faziam parte da pequena burguesia, e por isso o rapaz os desprezava como se não fossem de carne e osso e sofredores.
***
Abatida, murcha e com dores contínuas, deitada na cama, May olhou para a sobrinha com ar de censura.
— Vai sair de novo, Ellen?
— Tia May, há uma semana que não saio desta casa. É apenas por duas horas. Preciso sair, respirar, pensar um pouco, íicar só.
— Ellen, você é uma menina muito estranha. Às vezes não a entendo. — May teve um pensamento terrível. Sentou-se na cama, soltou um gemido fraco e perguntou: — Você não vai encontrar-se com ninguém lá fora, vai?
— Tia May, não conheço ninguém em Wheatfield, ninguém. Você sabe disso. Aos domingos, volto depressa da igreja e ninguém fala comigo. — Ellen sorriu e uma covinha apareceu em seu rosto. — Você está confortável? Não me demorarei.
May inclinou-se de novo e suspirou profundamente.
— Você sabe que a Sra. Eccles não admite que você tenha um acompanhante, Ellen. Espero que não converse com estranhos, no parque.
— Não, tia May.
— Não me parece direito você sair de casa, Ellen. Deve haver alguma coisa para você fazer aqui. Limpou todas as pratas, hoje?
— Claro. Faço isso todas as quintas-feiras.
— Pois bem, se encontrar a Sra. Eccles, pergunte-lhe se pode sair. — May suspirou de novo. — Não, não há nada que seja bom demais para ela; veja o que fez por nós. Você tem cinquenta dólares no banco, de economias, e eu tenho cem. Graças à Sra. Eccles.
Ellen desceu lentamente a escada, trajando um vestido de lã marrom, “decente”, um mantô preto e malfeito que pertencera à Sra. Eccles, um chapéu preto de aba larga, velho, e nas mãos as luvas dadas por Francis. Usava um par de sapatos pretos, abotoados, novos, baratos mas elegantes. Tinha, como diria May, uma aparência “respeitável”. Aparentava também ser o que era: uma criada. Mas um exame mais acentuado de seu rosto e de seu colorido, da perfeição dos traços apesar das maçãs salientes, muitas vezes surpreendia os transeuntes e aqueles que, cansados, vinham ao parque para um repouso passageiro.
A casa estava quente e muito silenciosa, exceto pelo ruído distante da fornalha e os ecos nos aposentos grandes. A Sra. Eccles estava sentada à sua escrivaninha na biblioteca, de frente para a porta, com expressão concentrada, examinando suas contas. Estava alarmada com o custo da comida desde a Guerra das Filipinas. Manteiga — doze cents o meio quilo! Leite — sete cents o quarto! Uma peça de rosbife — setenta e cinco cents! Um abuso. Exasperada, alisou com as mãos os cabelos macios, à Pompadour. Os preços eram de arruinar até mesmo os ricos. Suas faces gordas estavam coradas de indignação. Ela puxou com os dedos o queixo duplo e ficou pensativa. Havia uma pilha de moedas de ouro na escrivaninha e, para se alegrar, acariciou-as ternamente. Estava contente porque o inverno se aproximava; não teria mais que pagar dez dólares por mês ao jardineiro e ao outro empregado. A neve teria que ser retirada,
é claro, mas sempre havia um menino da parte pobre da cidade para fazer esse serviço por vinte e cinco cents. “Quando eu era moça”, pensou ela, “ficavam felizes por fazer isso em troca de um prato de comida.”
Ellen tentou esgueirar-se pela porta sem ser vista. Mas a Sra. Eccles lhe perguntou:
— Vai sair de novo, Ellen?
A menina parou.
— Apenas por uma hora e pouco, Sra. Eccles. A senhora sabe que faço isso todas as quintas-feiras. Gosto de me sentar no parque. O inverno vai chegar e o parque ficará cheio de neve.
A Sra. Eccles franziu as sobrancelhas.
— Você estudou um capítulo da Bíblia, Ellen?
— Sim, senhora. Faço isso todos os dias, ao me levantar.
A Sra. Eccles reclinou-se na cadeira e adquiriu um ar severo.
— Ellen, não gostei do jeito com que você assou a galinha, na noite passada. Não estava como May costuma fazer, com um pouco de estragão e de tomilho. Pensei que, agora, você já cozinhasse tão bem quanto May.
— Desculpe-me — disse Ellen, experimentando a conhecida sensação de culpa e de constrangimento. — Pensei que, na semana passada, a senhora tivesse dito que não aprecia muito esses temperos.
— May usa os temperos com muita sutileza. É essa a diferença. Você colocou mais lenha na fornalha?
— Sim, Sra. Eccles. Há meia hora.
— E deu aos gatos o creme da tarde?
— Sim, senhora. — Ellen olhou ansiosamente para a janela mais distante. O azulado brilho de outubro se apagava. Logo ficaria escuro.
— Pois bem, pode ir, Ellen. Mas seja discreta. Conserve os olhos baixos, como uma menina modesta. Nunca olhe diretamente para as pessoas. É atrevimento, para uma pessoa de sua classe.
Ellen abriu a pesada porta de carvalho e entrou no frescor abençoado e picante da tarde de outubro. Havia uma fragrância de folhas crestadas, unida ao cheiro acre de esterco de cavalo. Algumas carruagens passavam calmamente, levando senhoras com peles, luvas, chapéus de plumas, os joelhos cobertos por casacos de lã ou de pele. De algum ponto, vinha o perfume excitante de ketchup quente, de uvas, de carne assada. O céu era de um azul vivo, com uma nuvem branca aqui e acolá. Apesar de seu colorido, parecia frio e distante. A rua tinha, nos dois lados, casas semelhantes à da Sra. Eccles, mas com vidraças reluzentes e cortinas ricas, as aldravas brilhando como ouro. A calçada era ladeada por árvores vermelhas, amarelas e marrons, contrastando com o ocasional verde de uma figueira. Os gramados tinham um tom verde-esmeralda, mais vivo do que no verão, devido às fortes chuvas recentes, e pareciam quase artificiais. As últimas salvas e os copos-de-leite se avizinhavam nos canteiros. Soprou uma brisa suave e as folhas secas rangeram nas árvores, algumas dançando diante de Ellen, como se tivessem vida.
A moça sentiu no rosto o ar frio e caminhou com passos rápidos e firmes. Viu, ao longe, a fumaça azulada de uma fogueira de folhas subindo para o céu e ouviu o grito de uma criança. Chegou ao pequeno parque, cercado por uma grade de ferro, e atravessou o portão. Havia caminhos estreitos de cascalho, por entre árvores e bancos de madeira. O parque era frequentado principalmente por pajens, com carrinhos onde se viam crianças cobertas com ricas mantas enxadrezadas. No centro do parque, havia um grande canteiro de rosas, mas apenas um ou outro botão esperançoso estremecia no meio das folhas crestadas e dos galhos inclinados. Logo chegaria o inverno. Um esquilo correu na frente de Ellen, subiu numa árvore e olhou para a moça com ar desejoso, como que à espera de nozes. Ela tirara algumas da cozinha e jogou-as no chão. Com um grunhido, o esquilo se atirou no chão e agarrou-as, apoiando-se nas patas traseiras e comendo uma delas. Um tênue raio de luz insinuou-se pela folhagem e caiu sobre Ellen, que continuou caminhando.
Encontrou um banco. Estava completamente só, no parque, a não ser por uma mulher que levava seu cachorro para passear e duas outras, obviamente criadas, que estavam sentadas num banco, tagarelando. Ninguém notou Ellen quando se sentou, colocando no joelho a bolsa barata, de imitação de couro. O vento soprou mais forte; os fios do cabelo chamejante esvoaçaram e se encaracolaram à volta do rosto e na testa. Ela firmou na cabeça o chapéu preto. Todas as misturas feitas por May, de sementes de nogueira fervidas em água, não tinham conseguido diminuir o brilho daquele cabelo, nem o pó-de-arroz tirara o rosado do rosto e dos lábios.
Ellen sentou-se, consciente de seu cansaço. Levantara-se às cinco, como de costume, já estando na cozinha às seis, ou um pouco antes. À noite, jamais se deitava antes das dez. O calor da fornalha nunca chegava até os aposentos que ela e May ocupavam; os cobertores, embora quentes, eram grosseiros e escuros; a roupa de cama, áspera. Assim, Ellen sempre rezava apressadamente, tremendo em sua camisola de flanela, enfiando-se depois na cama e ali ficando a olhar pela janela estreita e sem cortinas. Quando finalmente pegava no sono, era apenas para ter sonhos tristes, acordando várias vezes durante a noite.
Não tinha esperança alguma. Ficaria velha, enrugada e abatida, trabalhando como doméstica, até não ter mais serventia. Depois, com suas parcas economias, iria para a “fazenda dos pobres”, ou talvez, se tivesse sorte, poderia supervisionar as crianças de uma casa estranha ou faria trabalhos de agulha ou remendos nalgum sótão frio, ganhando uma ninharia, com o corpo judiado pela artrite, as mãos entortadas pelo trabalho, os pés sempre frios e doloridos, com calos e joanetes, as costas encurvadas por anos de trabalho, a pele enrugada, os cabelos brancos.
Já estava acostumada à solidão; a melancolia sempre a perseguia. Mas naquele dia era mais profunda, porque o ano chegava ao fim e ela sentia uma dor pesada no coração.
“Para que nasci e por que nasci?”, perguntou a si mesma. “Parece não haver nenhuma razão, nenhuma resposta. Tia May diz que todos nascemos para sofrer, conformados, pois é a vontade de Deus, e só vivemos para agradar a Deus; não podemos aspirar ao céu se não cumprirmos o dever que Ele designou para nós. Mas, Deus de piedade! Não aspiro a nenhum céu! Quero um pouco de alegria, hoje, amanhã, um pouco de surpresa, uma pequena antecipação, alguma esperança. Quero ver nm pouco deste mundo belo, ser livre, embora por pouco tempo, ter lazer para poder pensar, rir, cantar, ser jovem, como nunca fui. Por um breve espaço de tempo, gostaria de ter minha própria lareira, minha própria cama, minhas próprias paredes. Sei que nunca poderei ser como as moças que vêm com as mães visitar a Sra. Eccles — moças bonitas, com belos vestidos de verão, de seda e rendas, e peles no inverno, e carruagens, e risos alegres, e pérolas nas orelhas e no pescoço. Sei que nunca usarei chapéus floridos de verão, como essas moças, nem suas plumas no inverno, nem as luvas forradas de pele, os regalos, os sapatos elegantes. Não nasci para isso; nasci para labutar e, portanto, não devo ter inveja, por um momento sequer, dessas moças da minha idade, tão despreocupadas e com um futuro tão promissor.”
Ellen continuou sonhando.
“Mas ter apenas uma hora, um dia, uma semana de paz e de solidão, livre de medo, com tempo para ler um livro ao pé do fogo, para ouvir música, ir ao teatro, andar pela margem do rio sem deveres que me obriguem a me apressar e me mantenham sempre afastada de tudo o que é belo! Eu morreria de bom grado para ter essa hora, esse dia, essa semana e não desejaria nenhum céu e não pediria nada mais a Deus. Eu dormiria — oh, Deus, dormir! — para nunca mais acordar, e aquilo teria sido suficiente.”
Mas não havia esperança para pessoas iguais a ela, para milhões iguais a ela, labutando nas montanhas sombrias para conseguir tesouros de ouro e de pedrarias em benefício daqueles que riam à luz e se deliciavam ao sol.
Não havia amargura nem inveja em Ellen, apenas tristeza porque nunca iria ver o esplendor do mundo onde nascera, nunca divisaria novos horizontes, nem ilhas misteriosas cheias de pássaros coloridos; jamais veria o oceano, ou as grandes velas dos navios, ou montanhas cobertas de neve e de gelo, ou cidades pulsando com vozes e com música e com o clamor das fábricas. Nunca veria as pedras rendilhadas das catedrais, não perceberia o silêncio das naves cheias de incenso, não ouviria um coro, nem caminharia por bazares exóticos. Todas essas coisas sobre as quais lera... jamais as conheceria, nem mesmo por uma hora.
Ela caiu no mundo da fantasia, seu único refúgio para escapar à realidade. Pensou em Jeremy Porter e seus lábios de repente se abrasaram com a lembrança do beijo dele, da força dos braços, da pressão do corpo contra o seu, da sensação do peito masculino contra seus seios, da carícia em seus cabelos, das palavras de consolo e de ternura murmuradas e apenas ouvidas, do calor do seu corpo.
O fogo dos lábios de Ellen espalhou-se por todo o seu corpo, que passou a vibrar, ansiar e exigir. Ela podia ver Jeremy, ouvi-lo e senti-lo tão vivamente que a dor de seu coração se transformou num gemido íntimo. Seu anseio era tão grande que quase se tornou insuportável. Ela queria levantar-se e correr, correr para o crepúsculo que se aproximava, correr para os braços de Jeremy. Podia vê-lo tão nitidamente, como se Jeremy estivesse ali com ela, chamando-a.
Ouviu vagamente o rangido de cascalho sob os pés de alguém. Mas, quando ergueu os olhos cheios de lágrimas e viu ali o próprio Jeremy, com um sobretudo de lã pesada e um chapéu escuro, ela não se surpreendeu. Em silêncio, levantou-se imediatamente. Quando o rapaz se aproximou, ela lhe estendeu as mãos, correndo, aninhando-se em seus braços. “Estou sonhando”, pensou, incoerentemente. E, então, ele estava beijando-a nos lábios e ela sentiu uma grande serenidade, uma realização, uma alegria que nunca antes sentira, paz, segurança — e o ar pareceu cantar em seus ouvidos.
Capítulo 8
Sentaram-se no banco, ao frio crepúsculo. O braço de Jeremy estava à volta da cintura de Ellen e ela colocou a cabeça no ombro dele, sentindo-se protegida e segura.
— Como é que me encontrou?
— Nunca a perdi — respondeu Jeremy, afastando uns fios de cabelo que lhe tinham caído sobre os olhos. — Eu sabia que você vinha a este parque às quintas-feiras. Não se preocupe como foi que fiquei sabendo, amor, meu doce amor.
Ela apoiou-se em Jeremy, sentindo ondas e ondas de tranquilidade e de felicidade que apagaram até mesmo a lembrança da dor, dos anseios e do desespero. Sentia-se realizada, num refúgio, protegida e, por mais incrível que lhe parecesse, amada. Sua tristeza desaparecera pela primeira vez na vida, e ela conversou com Jeremy com uma deliciosa liberdade, uma inocência que ele considerou patética, uma total confiança. A moça nada indagava; bastava ele estar ali, conforme sonhara milhares de vezes. Embora o ar da tarde que caía se tivesse tornado mais frio, ela sentia calor no corpo inteiro e um conforto tão profundo, ao mesmo tempo físico e espiritual. Em certos momentos, receou que também isso fosse fantasia, mas um olhar para o rosto acima dela, rosto tranquilizador e terno, fez com que suspirasse, extasiada.
Ellen contara a Jeremy toda a infelicidade dos últimos quatro anos, todos os sonhos com ele, os anseios, a desesperança, a incapacidade que tivera de “amar e confiar”.
— Sinto-me tão culpada de minha revolta, agora que sei que durante todo esse tempo você me amava, sabendo onde eu estava e esperando por mim! — disse ela.
Ellen já havia falado a Jeremy da “bondade” da Sra. Eccles, que as tomara, a ela e a May, “a seu serviço”, e da solicitude de Francis Porter, que pelo menos uma vez por mês vinha a Wheatfield para saber se ela estava passando bem. Não notou que o rosto de Jeremy ficara sombrio ao ouvir aquilo, embora ele não tivesse feito comentário algum. Ele apenas olhava dentro de seus olhos enquanto ouvia, percebendo que a maturidade a tornara mais bela, embora houvesse à volta de seus lábios uma expressão de tristeza.
Ellen não fez perguntas sobre o futuro, nem cogitou disso. Sabia apenas que Jeremy estava ali, que aquilo não era um sonho, que ele não a tinha abandonado, que sempre pensara nela. Com voz tímida, pediu-lhe, inúmeras vezes, que lhe repetisse isso. Suspirava, sentindo conforto e prazer. Mas lamentou, novamente, não ter sentido “amor e confiança” suficientes.
Ao ouvir isso, Jeremy torceu os lábios e olhou para o outro lado. Finalmente, disse:
— “Amor e confiança”? Querida, não há ninguém neste mundo digno de amor e de confiança, nem pais, irmãos ou irmãs, nem mesmo maridos ou esposas e, principalmente, amigos. Você ainda não descobriu que este mundo é feio e mau, um inferno onde apenas a malícia, a inveja e a traição florescem?
Ellen afastou-se dele por um momento, mas Jeremy deu uma risada e puxou-a de novo para si.
— Sou um cínico — disse ele. — E também um pessimista, e fiquei assim por ter tido contato com os amantes fraternais e os otimistas. — Jeremy não queria que Ellen compreendesse a hediondez da vida; a timidez e a inocência da jovem faziam parte das comoventes qualidades que tinham feito com que, desde o princípio, ele a achasse adorável. — Pois bem, não se preocupe. Talvez você possa... hum... confiar em Deus. Você confia n’Ele, não é, meu amor?
O rosto de Ellen tornara-se tristonho.
— Não o suficiente, como quando eu era criança. Fui tão revoltada! Espero que Ele me perdoe.
— “Bela filha de Toscar.”
— Thoreau — disse ela, de novo consolada. — À noite, quando todos estão dormindo, vou de mansinho até a biblioteca da Sra. Eccles, com uma vela, e leio alguns de seus livros maravilhosos...
— E os livros que lhe mandei, todos os meses?
Ellen sobressaltou-se.
— Seus livros? Nunca os vi... Jeremy.
Ele ficou em silêncio por um ou dois minutos, enquanto a moça o fitava ansiosamente. Depois, disse:
— Compreendo. Sim, compreendo. O dragão ao portão, vigiado por outro dragão.
— Não entendo, Jeremy.
— Não se preocupe. Já é suficientemente mau que eu entenda. E que é que você lê naquela biblioteca, Ellen?
— Hobbes, Edmund Burke. Montaigne, Kant. Erasmo, Spinoza, Shakespeare. Todos os livros de Charles Dickens e de Thackeray. História. Aventuras. Muitas outras coisas.
— É muita bondade da Sra. Eccles deixar que você leia os livros dela.
Jeremy ficou esperando pela resposta, que ele tinha cer-leza de que viria.
— Oh, ela não sabe. Ela e tia May dizem que os livros enfraquecem a mente de uma mulher. A Sra. Eccles só lê jornais de negócios. Ela faz grandes investimentos.
— E todos esses negócios não “enfraquecem” a mente dela, não é?
Ellen riu suavemente.
— A Sra. Eccles é uma senhora de espírito muito forte.
— Não duvido. E também muito religiosa, garanto.
— É, sim. Faz com que tia May e eu nos ajoelhemos todas ns noites para rezar, e ela reza alto. — Ellen sentiu-se uma iraidora e acrescentou, apressadamente: — Acredita piamente que Deus guia cada um de nossos passos.
— Principalmente em direção ao banco — observou Jeremy. — Tenho certeza de que a Sra. Eccles acredita mais nos bancos do que em Deus, e isso é muito sagaz da parte dela.
Ellen sentiu-se levemente constrangida, embora não o compreendesse inteiramente. Apesar disso, observou:
— Deus o trouxe até mim, Jeremy. Atendeu às minhas orações.
Havia uma espécie de súplica na voz dela, à qual Jeremy não resistiu.
— Se isso lhe servir de consolo, continue acreditando — disse ele, apertando-a mais fortemente. — Agora que você está com dezoito anos, temos planos a fazer.
Jeremy sentiu que ela se afastava. Olhou-a e perguntou:
— Que há de errado, Ellen?
A moça pareceu amedrontada. Fitou-o com ar súplice.
— Não tenho dezoito anos.
Jeremy sorriu com indulgência.
— Para falar com franqueza, pensei que fosse mais velha. Dezenove? Vinte?
— Não — respondeu Ellen. Jeremy mal podia ver-lhe o rosto, no escuro. — Só tenho dezessete. Sabe, eu precisava trabalhar, em casa da Sra. Porter. Precisávamos daquele dólar por semana, e lá eu tinha duas refeições por dia. Tia May me recomendou que dissesse que tinha catorze anos e não treze, que era realmente a minha idade. Se tivesse dito a verdade, a lei não teria permitido que eu trabalhasse em tempo integral, mais de doze horas por dia.
“Um maldito contratempo”, pensou Jeremy. “A tia de Ellen ainda é sua tutora.” Depois se lembrou de que, no Estado de Nova York, as leis eram um pouco diferentes e que as crianças tinham licença de trabalhar em fábricas e em lojas até mesmo com cinco ou seis anos, e que lá consideravam uma pessoa do sexo feminino, depois da puberdade, bastante madura para casar-se, se ela assim o desejasse.
A escuridão tomara conta do parque. Um pedaço de lua surgiu acima das folhas sussurrantes das árvores e algumas estrelas dançaram por entre a folhagem. Na sua alegria e em seu êxtase, Ellen se esquecera das horas e de seu dever; fora erguida a um mundo onde tudo era realização e serena perfeição. Não viu a escuridão e nem a luz; não viu que, lentamente, as luzes das casas do outro lado do parque se acendiam, nem sentiu no rosto o vento acre da noite. Mesmo na escuridão, Jeremy podia ver-lhe os olhos, brilhantes como estrelas, e achou que naqueles quatro anos Ellen adquirira um encanto imaculado e um poderoso magnetismo, dos quais ela não se apercebia. Ele não sabia se isso se devia à sua inocência ou ao fato de que ninguém jamais os houvesse revelado a ela, cercada como estava apenas por mulheres e principalmente por mulheres que viam encanto e magnetismo apenas nas pessoas mediocremente bonitas. Em todo caso, misturado à sua ternura e solicitude, além do amor verdadeiro, da vontade de protegê-la e de salvá-la, havia um desejo crescente. Jeremy inclinou-se e beijou-a de novo nos lábios, demoradamente, e Ellen abriu a boca e retribuiu o beijo com ternura. Ele quase perdeu o controle; tocou-lhe o seio e, depois, segurou-o, aquele seio firme e jovem, coberto por um vestido grosseiro de lã. Ela não se contraiu, nem se afastou. Numa entrega natural e ainda incompreensível, comprimiu o seio mais fortemente contra a palma da mão de Jeremy e suspirou, um suspiro longo e profundo e de total confiança. Foi essa confiança, essa inocência que fizeram com que ele a soltasse vivamente, dando-lhe depois uma pancadinha no rosto, um gesto que ele esperava que parecesse paternal.
Um profundo silêncio de contentamento se fez entre eles, enquanto Ellen se aninhava nos braços de Jeremy como uma criança perdida que chegara ao lar, ali encontrando amor e luz. Ele lembrou que, mesmo enquanto lhe contara muitos dos momentos tristes daqueles quatro últimos anos, Ellen não demonstrara ressentimento, nem autopiedade, nem um espanto mal-humorado por ter sido escolhida para suportar toda aquela miséria. Jeremy achou isso mais patético do que o relato que ela fizera. Obviamente haviam dito a Ellen que era esse o seu quinhão na vida, e que protestar, a não ser fracamente e em raras ocasiões, quando exacerbada, era “errado” e um insulto a Deus. Se ele não estivesse convencido, havia muito tempo, de sua inteligência, a teria considerado estúpida e seu amor por ela teria sido infinitamente menor.
O sino de uma igreja badalou estridentemente as sete horas e Ellen saiu de seu sonho de felicidade, tendo um sobressalto e soltando um gritinho.
— Oh, esquecime! São sete horas e eu já devia ter ido para casa há duas horas! Oh, a Sra. Eccles vai ficar muito zangada. Vai passar um pito em tiá May e talvez nos despeça, a ambas! Que vou fazer? — Olhou para Jeremy, aterrorizada. Ele apertou-a com mais força.
— Meu amor, vim buscá-la, para me casar com você o mais depressa possível. Não percebeu isso?
Ela arregalou os olhos, fitando-o, estupefata.
— Casar?... — murmurou.
Jeremy sacudiu-a com amorosa impaciência.
— Claro. Foi para isso que vim, hoje. — O rapaz riu do espanto de Ellen. — Por que acha que vim aqui? Apenas para abraçá-la e conversar com você? Ellen, você não tem juízo?
Ela entrelaçou as mãos, ainda fitando Jeremy, incrédula.
— Eu... Eu não pensei em nada, Jeremy. Bastava você estar aqui.
— E achou que iríamos passar o resto da vida sentados neste banco do parque e acabar ficando cobertos de folhas e de neve? Você é uma tonta, Ellen.
— Mas você não pode casar-se comigo. É... Jeremy Porter... um homem rico, um advogado, e eu sou apenas uma criada!
— Pois bem, nunca ouviu falar de Cinderela e de seu príncipe? Ou, em suas grandes leituras, negligenciou os velhos mitos?
— Não pensei em nada — murmurou Ellen, fechando os olhos e apertando-os para não ver a maravilha que de repente se apresentava diante dela: uma vida de bênçãos, com Jeremy, na casa dele, em Nova York! De repente começou a chorar, com soluços profundos. Jeremy ficou alarmado, mas depois compreendeu que ela estava feliz e não podia suportar semelhante alegria. Tirou o lenço para enxugar-lhe as lágrimas. Ellen arrancou as luvas que Francis lhe dera, estendeu as mãos inchadas, vermelhas e calosas, mostrando-as a Jeremy, à amarelada luz de gás que agora brilhava no parque.
— Veja-as — disse. — Acha que estas mãos podem ser da mulher de Jeremy Porter?
Ele segurou as mãos de Ellen e beijou-as.
— Espero que sim, bobinha.
Confusa e abalada, mas radiante, ela comprimiu as mãos nos lábios dele.
— Não acredito em nada disso. Como poderia acreditar que um homem como você iria querer uma moça como eu?
— Você deveria olhar-se no espelho de vez em quando e também ouvir a sua voz.
Ela ficou perplexa. Depois teve outro pensamento e seu rosto adquiriu uma expressão consternada.
— Não posso deixar tia May aqui, Jeremy. Nunca poderia abandoná-la.
— Por que haveria de deixá-la? Ela irá conosco. — Esse era um novo aspecto da situação, que Jeremy ainda não considerara. — Ou, se ela quiser ter o seu canto, num hotel sossegado, nós lhe faremos a vontade. Deus sabe que ela merece o pouco de prazer que puder ter na vida, com sua artrite e uma vida inteira de sofrimento!
Ellen agarrou o braço dele com força e Jeremy pôde ver o rosto extasiado, que a felicidade tornara de novo belo.
— Você quer mesmo isto, Jeremy? Quer mesmo?
— Claro que quero. Agora vamos para a casa da Sra.
Fccles, dar a boa notícia à sua tia. Estou no Hitchcock Hotel. Você e sua tia vão fazer as malas o mais depressa possível e iremos embora juntos para Nova York, onde nos casaremos.
Ellen soltou uma exclamação de alegria. Levantaram-se e, de mãos dadas, dirigiram-se para a casa da Sra. Eccles. Jeremy viu, com uma compaixão um tanto divertida, que Ellen ia pulando como a criança que era, com murmúrios de êxtase e de antecipação. Notou que o rosto da jovem irradiava felicidade e ficou muito comovido, segurando-lhe a mão ainda com mais força. Ellen fitava-o com adoração.
As luzes brilhavam nas janelas do andar de baixo da casa e a própria Sra. Eccles foi quem abriu a porta, com o rosto vermelho de cólera e uma expressão furiosa nos olhos.
— Ellen, isso é uma vergonha! Você está duas horas atrasada... — Nisso viu o vulto de Jeremy atrás da moça e ficou ainda mais zangada. Então, a fingidinha tinha um “acompanhante”, afinal de contas, e traria escândalo àquela casa; teria que ser despedida e a Sra. Eccles iria ficar privada das melhores e mais baratas empregadas que jamais tivera. — Oh... Quem ó você, meu rapaz? — perguntou com desprezo.
Ele tirou o chapéu e disse:
— Sra. Eccles, sou Jeremy Porter, primo de seu sobrinho Francis.
Ela ficou boquiaberta e fitou-o com ar idiota. Pela primeira vez, notou as roupas dele. Recuou. Lembrou-se do que Francis lhe dissera, que aquele homem tentara seduzir Ellen e que a menina precisava ser protegida e que todas as cartas dele deveriam ser confiscadas e destruídas e que o nome dele... — o nome de um homem mau e corrupto — jamais deveria ser mencionado. “É melhor que seja esquecido por Ellen e por May”, dissera Francis. “Elas precisam ser protegidas de um mulherengo, um sedutor nato, que procurou aproveitar-se de uma pobre menina.” A Sra. Eccles achara que isso mostrava o grande coração e a caridade de Francis, sua preocupação com "as classes inferiores”, que tinham propensão para o vício e um comportamento indecente, eram levianas e cheias de paixões haixas, jamais pensando nas consequências de seus atos irresponsáveis.
Lera a respeito de Jeremy nos jornais de Nova York. “Um advogado jovem e promissor, de grande brilho, que conquistará hcu lugar no mundo”, dissera um deles. Assim sendo, a Sra. Eccles não soube o que fazer. Socialmente, Jeremy era superior a ela. Francis contara à tia, com um pouco de inveja e de ressentimento, que Jeremy era rico, com fortuna própria, e que certamente um dia seria ainda mais rico. Era também um cavalheiro, e qualquer pessoa, em Wheatfield, se sentiria honrada em recebê-lo. A educação aconselhava a Sra. Eccles a ser cortês e hospitaleira; por outro lado, ainda estava furiosa com Ellen, e ocorreu-lhe um lúgubre pensamento, isto é, que Jeremy conseguira seu propósito obsceno. Desejou bater em Ellen por colocá-la naquele dilema, pois sua moral a incitava a censurar Jeremy e seu realismo a impelia a recebê-lo bem, com prazer, orgulho e adulação.
Procurou dar à voz uma expressão severa, enquanto os dois continuavam ali, à soleira da porta. Ellen estava pálida e trêmula.
— Estou admirada... Sr. Porter... — disse a Sra. Eccles. — Esta moça, uma criada em minha casa... Onde a encontrou, hoje? Que é ela para o senhor, uma criada, uma copeira, e o senhor... um cavalheiro de Nova York?
— Vim para me casar com a Srta. Watson — disse Jeremy. — A senhora faz alguma objeção? E podemos entrar? Está muito frio aqui fora.
— Casar... casar... — balbuciou a Sra. Eccles. — Mas isso é impossível. Não posso acreditar. Ellen... e o senhor... Sr. Porter, afinal de contas... Oh, entre! Por favor, desculpe-me por deixá-lo aí fora. E Ellen... — Sua voz adquiriu um tom severo e cortante. — Faça o favor de ir imediatamente para a cozinha. Sua tia ficou tão perturbada com sua demora, que piorou e não pôde descer, para preparar meu jantar e você terá que fazê-lo e, por favor, lembre-se ao menos por uma vez de não dourar demais as cebolas para o assado. Vá imediatamente para a cozinha, Ellen. Cuidarei de você mais tarde.
Lançou à moça um olhar acusador e ameaçador, um dos mais terríveis que Ellen recebera dela. A moça tremia tanto que quase caiu. Jeremy segurou-a pelo braço; depois ela fugiu, abatida e amedrontada.
Jeremy entrou no saguão. Amável e sorridente, a Sra. Eccles pegou o chapéu e o sobretudo do rapaz.
— O senhor precisa me fazer companhia ao jantar, Sr. Porter, se aquela... menina... não estragar tudo. O senhor não faz ideia do que são as empregadas, hoje em dia... Incríveis. Furtivas, desmazeladas, sem respeito próprio, nem humildade ou responsabilidade. Uma cruz! Vamos para a biblioteca, onde
há um fogo agradável. Um cálice de xerez? — Acrescentou, com um suspiro: — Tenho sido como uma mãe para aquela menina, uma verdadeira mãe, e agora ela me retribui... — Olhou para Jeremy, lembrando-se das palavras dele. Seu olhar e seu sorriso eram significativos. Claro que ele queria levar a menina embora, para Nova York, a fim de “se aproveitar” dela e depois, conforme se costuma dizer, “deixá-la de lado, como um trapo”. Pois bem, os homens eram homens, afinal de contas; o falecido Sr. Eccles lhe ensinara isso muito bem. Mas aquela moça desavergonhada... imoral e conivente... isso era outra coisa. Casar, tinha graça! Ela fora iludida, o que era de se esperar. Deus do céu, como os homens eram enganadores. Em todo caso, a moça é que merecia ser censurada, depois de ter sido cuidadosamente educada naquela casa; sim, ela e não um homem da posição do Sr. Porter.
Enquanto Jeremy, que se forçara a ter uma expressão alegre no rosto geralmente taciturno, a acompanhava à biblioteca, a Sra. Eccles teve um assomo de piedade por Ellen, de quem gostava de uma maneira vaga, pois no íntimo era uma mulher justa. Estava decidida a proteger a moça, dizendo-lhe que as promessas de um homem eram apenas um plano para conseguir o que quisesse de uma moça. “Querida, você não deve acreditar nele nem por um instante... embora seja um cavalheiro.” Que lora mesmo que o Salmista dissera a respeito de sua incapacidade de compreender “o modo de uma águia no céu, o modo de uma pomba no ninho, o modo de uma serpente na rocha e o modo de um homem com uma criada”? Ellen precisava que lhe lembrassem isso, com calma severidade, para que ficasse “prevenida”. (A Sra. Eccles tomara a palavra contida no salmo literalmente e no sentido moderno, isto é, uma criada.l - 1 “Maid”, em inglês, significa "moça solteira” ou "criada”. (N. da T.) Por mais autoritária e inflexível que fosse quando se tratava de seu dever, não era nenhuma Agnes Porter. Mesmo assim, lembrou-se do que o seu querido Francis dissera daquele homem. Mas Jeremy era realmente encantador, apesar de sua aparência rude e de sua voz autoritária. Era um cavalheiro muito levado, enganando daquele jeito a pobre criadinha, Ellen. A Sra. Eccles se sentiu muito tímida e travessa, com ele, e muito mundana.
Jeremy sentou-se num dos lados do fogo bem-vindo (para ele) e a Sra. Eccles sentou-se no outro. Os dois tomaram xerez, leremy examinava discretamente a Sra. Eccles, mesmo enquanto tagarelavam agradavelmente sobre o tempo e amigos comuns de Filadélfia e de Nova York. Jeremy levou apenas cinco minutos para ficar sabendo tudo a respeito daquela mulher baixa e gorducha, de vestido preto com babados no decote e nos pulsos grossos. Percebeu que era esperta, sagaz, e provavelmente muito mais inteligente do que a mãe dele... Os olhos da Sra. Eccles tinham um brilho alegre, que Jeremy desconfiava não vinha da alma; era deliberadamente forçado. A Sra. Eccles tinha uma certa vivacidade, também intencional. Pela conversa que estavam tendo, Jeremy percebeu que ela falava quase que só usando lugares-comuns, cuja origem provavelmente ignorava por completo. Ele sabia que as pessoas que estão sempre usando chavões não são muito inteligentes, seja qual for a sua educação. Uma conversa original indica uma inteligência viva, e esta inteligência se manifesta em frases simples e lúcidas, jamais complicadas. Mas a Sra. Eccles não podia terminar uma frase sem usar um chavão, uma frase feita, fazendo-o com um ar de erudição. Jeremy poderia ter achado isso divertido, se ela não tivesse falado severamente com Ellen, se tivesse de fato tratado a moça “como uma filha”.
O rapaz percebeu também que ela achava que a observação dele, sobre casar-se com Ellen, era mera frivolidade, com insinuações masculinas e sinistras.
Ele se levantou para jogar mais lenha na lareira, e ela o observou com franca admiração, reconhecendo que ele era realmente muito bonito, para quem entendia de beleza masculina, o que ela achava que era o seu caso. Jeremy nada tinha da delicadeza do primo, no jeito de falar, nos modos e nem, tampouco, na aparência. Tinha um ar cruel e dominador, completamente masculino, desde os ásperos cabelos negros até os olhos cínicos, o nariz bem saliente, a boca implacável e o queixo quadrado, onde se via uma covinha. “Ah, se eu fosse mais moça!”, suspirou ela, encantada, sentindo um estremecimento meio impróprio. Olhou para os traços firmes, um tanto côncavos, de Jeremy e achou que ele devia ser inflexível. Viu as mãos quadradas, largas e grossas e de novo sentiu um arrepio e considerou-se muito travessa.
Disse, em tom coquete:
— Espero que tenha vindo para passar algum tempo em Wheatfield, Sr. Porter. Gostaria de lhe oferecer um jantar. Afinal de contas, de certo modo o senhor faz parte de minha família. Seu tio, Walter, é meu cunhado, sabe? Foi casado com minha irmã.
— Sim, sei — respondeu Jeremy, sentando-se novamente e cruzando as pernas longas e pesadas, dentro de uma calça axadrezada, de tecido e feitio caros. — Mas vou tomar o trem da tarde, dentro de um ou dois dias, para voltar a Nova York. — Fez uma pausa e fitou-a. — E vou levar Ellen e May comigo.
Ela ficou tão surpresa, que empalideceu. Disse, gaguejando:
— Mas, Sr. Porter, isso é inacreditável! Elas são minhas empregadas; uma semana de aviso, pelo menos... O senhor com certeza está brincando. Ellen! Uma criada! Agnes Porter me escreveu... O que aturou dessa menina, quando estava em sua casa! Sua mãe, a Sra. Porter...
— Minha mãe é uma mentirosa, Sra. Eccles — disse Jeremy em tom frio e deliberado.
Ela ficou escandalizada. Seus olhos se alargaram.
— Sua mãe, sua santa mãe! Não posso acreditar em meus ouvidos, Jeremy. É Jeremy, não é? Por que haveria ela de inentir a respeito de uma criatura miserável como Ellen, que estou tentando treinar para ser uma boa empregada? Mentir sobre essas criaturas seria uma diminuição para uma pessoa como sua mãe. Mas perdôo Ellen; creio que eu poderia submetê-la, dirigi-la, fazer com que compreendesse sua situação na vida, com que se mostrasse convenientemente humilde. Eu protegeria sua moral, impediria que tivesse acompanhantes, o senhor sabe; nada de duvidoso! Ela morava aqui como num convento; eu lazia com que estudasse um capítulo da Bíblia todas as noites, mandava-a à igreja, admoestava-a frequentemente, tudo para o seu próprio bem, o senhor sabe, para preservar sua alma...
— Muita bondade sua — observou Jeremy.
A Sra. Eccles não notou a ironia, a censura no tom da voz dele. Assim, ficou mais mansa e chegou a sorrir.
— Obrigada — disse, envaidecida. — Faço o possível por essas pobres criaturas; é dever de uma cristã. — Agora ela sacudiu para ele o dedo e também a cabeça. — Sr. Porter... Jeremy... acha que é justo, ou direito, iludir Ellen dessa forma, com uma promessa que o senhor não pode cumprir?
— Mas pretendo cumpri-la — replicou o rapaz. — Amo Ellen desde que ela tinha treze anos, em casa de minha mãe.
— Oh! — exclamou a Sra. Eccles, com uma expressão nstuta, lembrando-se do que Francis lhe contara. — Sejamos Irancos, Jeremy. O senhor quer May e Ellen para sua casa, em
Nova York, como cozinheira e arrumadeira. Ellen como arrumadeira... — insistiu ela, quase piscando para Jeremy. Mas a expressão do rapaz era tensa, séria.
— Quero Ellen para minha esposa, e ela concordou em se casar comigo.
A Sra. Eccles ficou ainda mais escandalizada.
— Jeremy! Uma doméstica, de origem duvidosa... Ouvi certas histórias, embora nunca tenha deixado que isso pesasse contra a pobre menina. Ouvi dizer que...
— Sim, sei o que ouviu — disse Jeremy. — Que Ellen é filha natural. É verdade. — Ele falara com serenidade. — Investiguei o assunto porque tio Walter me contou uma história muito interessante. Não investiguei por simples curiosidade; queria me certificar de certas coisas. E foi o que fiz. Ellen é filha natural de John Sheldon Widdimer, de Filadélfia, de uma família muito importante; muito rica, também. May e a mãe de Ellen eram empregadas na casa do pai do rapaz. Mary, a mãe de Ellen, era miúda e linda. É uma velha história, não é?
A Sra. Eccles estava atônita.
— Ellen? Uma Widdimer? Conheço-os... Isto é, ouvi falar deles. Oh, não é possível!
Jeremy inclinou a cabeça.
— Garanto-lhe que não somente é possível, como verdadeiro. May levou a irmã embora, para Erie; era mais velha do que Mary e se sentia responsável por ela. E foi em Erie que Ellen nasceu. Mary morreu logo depois. E há mais uma coisa: John Widdimer deixou um testamento curioso. Posso citar um parágrafo, verbatim: “Para cada um de meus herdeiros naturais, se os houver, e aplainadas as dificuldades legais, deixo a quantia de duzentos mil dólares ”. Ele deve ter sabido que Mary estava... digamos, em estado interessante. Informaram-me, também, de que ele procurou descobrir o paradeiro das duas mulheres, May e Mary, nada conseguindo. Provavelmente queria casar-se com Mary, assim como quero casar-me com Ellen.
— Ouvi, sim; ouvi contar que ele foi morto por um cavalo — disse a Sra. Eccles, com voz sumida. — Duzentos mil dólares! Ellen! Mas a lei não irá permitir...
— Oh, sim, permitirá. Sou advogado, Sra. Eccles. Ninguém sabia direito o que ele queria dizer naquele testamento, nem mesmo seu pai que, apesar disso, tinha algumas suspeitas. Segundo soube, Ellen é o retrato de sua avó, Amy Sheldon Widdimer. Tio Walter, quando jovem, viu o retrato de Amy, e ficou espantado quando conheceu Ellen.
A Sra. Eccles empertigou-se na càdeira e apertou as mãos uma contra a outra.
— Vai contar a Ellen?
— Não. Ela não está precisando desse dinheiro; vai casar-se comigo. Quero que continue acreditando no que May lhe contou sobre sua origem, seja lá o que for, e tenho certeza de que a senhora, como dama bem-educada, não mencionará a May ou a Ellen o que lhe contei.
— Oh, pode ficar tranquilo! — A Sra. Eccles refletiu por uns minutos. — Parece incrível, sim, parece realmente. Pois bem, sempre desconfiei de uma coisa desse gênero, não que eu condene a pobre e infeliz menina. Sua mãe, Jeremy, me escreveu dizendo que Ellen era, na realidade, filha de May e de um sujeito de baixa categoria...
— Conforme já disse antes, minha mãe é uma mentirosa que gosta de pensar o melhor de si mesma e o piòr dos outros — declarou Jeremy, com calma deliberação.
— Que falta de respeito, senhor, para com sua pobre mãe, que abrigou...
— Ela nunca abrigou ninguém na vida, e tirou das infelizes criaturas que trabalharam para ela os mínimos meios de subsistência. Isto é, ela lhes pagou mal e deixou que se alimentassem o mínimo possível. Sim, realmente é uma boa cristã, cheia de amor pela humanidade. Conheço centenas iguais a ela, com diarreia de boa vontade na boca e prisão de ventre na bolsa.
A Sra. Eccles corou ante essas palavras cruas, mas Jeremy lhe dirigiu um sorriso simpático. Ela virou a cabeça modestamente, como que ofendida, mas era uma mulher do mundo e depois desse gesto de educação e de modéstia, próprio de seu sexo, olhou de novo para Jeremy.
— Mas... Ellen! O senhor é um belo homem, de posição e com uma profissão. Poderia casar-se com quem quisesse e não apenas com uma...
— Bastarda — completou Jeremy.
Ela pôs as mãos diante do rosto, como que para protegê-lo.
— Oh, não vamos ser tão rudes... Estou falando de Ellen, não da família dela. Uma moça muito simples, nada bonita e nem atraente. Moça feia, sem nome. Considero isso muito impróprio, Jeremy. Muito impróprio para uma pessoa de sua posição. Não sei o que seus pais irão pensar...
— Não dou a isso a mínima importância — declarou Jeremy. Teve outro pensamento. Precisava tornar as coisas mais fáceis e mais agradáveis para Ellen, na medida do possível, quando ele falasse com a tia da moça, May. Ele conhecia as tristes Mays deste mundo, com suas teimosas convicções sobre o que era impróprio, assim como a sua crença na diferença de classes. De certo modo, era uma espécie de autoproteção e também de orgulho patético. Assim sendo, ele teve uma atitude constrangida e até mesmo um pouco súplice. Inclinou-se para a Sra. Eccles, dizendo: — Gostaria de lhe pedir um favor, Sra. Eccles, um grande favor, mas hesito em fazê-lo.
Ela ficou de novo envaidecida.
— Peça-o, então.
O rapaz inclinou a cabeça com tão grande afetação de timidez, que somente uma pessoa como a Sra. Eccles poderia iludir-se. Ela curvou-se avidamente para Jeremy.
— Sra. Eccles, sabe como é a pobre May, uma mulher doente, prematuramente envelhecida e muito cansada. Sabe também como sua... classe... é teimosa, e as ideias que tais pessoas têm sobre o que é próprio ou impróprio. Só Deus sabe como isso lhes foi inculcado desde o nascimento, por motivos astuciosos, realmente. Tenho dois favores a pedir-lhe. Ficar-lhe-ia muito grato se a senhora fosse agora, calmamente, procurar May e explicar-lhe a situação...
A Sra. Eccles sorriu astuciosamente.
— Compreendo. O senhor receia que May fique histérica e proíba o casamento... Afinal de contas, é tutora de Ellen... e, se não concordar em ir para Nova York, Ellen não irá sem ela. May tem um senso agudo do que é ou não apropriado.
Jeremy inclinou a cabeça.
— Exatamente, Sra. Eccles. Agora, o favor maior. Suponho... Não; não creio que a senhora chegasse a considerar isso... mas eu lhe ficaria devedor se nos acompanhasse a Nova York e fosse testemunha de casamento de Ellen. Tenho uma suíte grande no Waldorf Astoria e, com sua permissão, alugaria outra para a senhora e um bom quarto para May. Não; tenho certeza de que não concordará...
Ela ficou impressionada. Depois bateu palmas, de um modo tão forte que Jeremy fechou o sobrolho. Exclamou:
— Claro; ficaria muito honrada, Jeremy! Muito honrada por ter sido convidada. E serei dama de companhia de Ellen e a ajudarei a comprar o enxoval. — Pôs os dedos nos lábios e continuou: — Mas ela não tem dinheiro.
— Que fique entre nós, Sra. Eccles. Eu lhe darei o dinheiro, para o que Ellen precisar.
— Mas isso seria muito impróprio...
Jeremy sorriu.
— Muito bem. Vamos fazer desse jeito. Outro segredo. A senhora dirá a Ellen que é o seu presente para ela. Mais tarde eu lhe darei um cheque, Sra. Eccles, discretamente, mas primeiro a senhora gastará de seu próprio dinheiro, abertamente. Muito correto, não acha?
A Sra. Eccles adorava intrigas, como todas as pessoas de seu tipo, e ficou encantada.
— Rapaz levadinho! Gostaria que eu mentisse, não é? Mas a verdade é que não seria realmente mentira. Seria meu próprio dinheiro, de minha própria bolsa...
— E eu a reembolsarei depois. É o nosso segredo. E agora, por favor, quer ir falar com May?
Ela levantou-se e neste momento Ellen apareceu à porta.
— O jantar está servido, senhora — disse ela. Estava muito pálida e decidida, e sua maneira de olhar para a Sra. Eccles não era tímida, nem servil. Jeremy soube que a moça tinha uma alma de aço, coisa de que sempre desconfiara. Ela tivera tempo de se acalmar na cozinha, de renovar sua fé em Jeremy. Os grandes olhos azuis o fitaram por um instante com absoluta confiança.
Ellen sobressaltou-se quando a Sra. Eccles caiu em cima dela com gritos de profunda afeição. Esquecera-se a patroa de que a moça era uma criada em sua casa. Enlaçou Ellen com seus braços roliços, cobertos por mangas de seda preta. Estupefata, Ellen olhou para a cabeça de sedosos cabelos castanhos, que mal chegava ao seu queixo. Virou-se depois para Jeremy, boquiaberta.
— Minha querida menina! — exclamou a Sra. Eccles. — O caro Jeremy, tão impetuoso, acaba de me contar tudo! Tudo! Oh, como é maravilhoso e que diabinha segredeira você é, e tão sortuda, oh, mal posso respirar! É demais, é realmente demais...
Puxou Ellen para o seu busto volumoso e a moça quase cambaleou ante a energia daquele abraço. As palavras que ouvira a tinham deixado estupefata. Ficou inerte nos braços da Sra. liccles e, ainda com maior espanto, recebeu no rosto o beijo cia patroa. Olhou ansiosamente para Jeremy. Ele queria rir, mas conservou-se sério. Inclinou a cabeça para Ellen, dizendo:
— Sim, meu amor. A Sra. Eccles vai agora contar para sua tia e tudo será acertado.
Ellen se pôs a chorar e sua patroa começou a emitir sons de consolo, como uma mãe carinhosa, enxugando-lhe as lágrimas com seu lenço perfumado e beijando-a novamente. Jeremy virou-se bruscamente, pois não era ocasião própria para rir.
— Vamos todos juntos! — exclamou a Sra. Eccles, terminando a frase com os olhos fixos no rosto de Ellen e segurando-lhe a mão como se fosse uma colegial alegre. — Vamos contar para May, juntos! Oh, como vai ficar feliz! Mal posso esperar para ver seu rosto quando eu lhe contar!
“É uma ideia sensata”, pensou Jeremy. “Haverá só um ataque histérico, não dois, e May com certeza ficará intimidada pela sabida Hortense, que, afinal de contas, denota ter bom senso.” Assim, inclinou a cabeça para Ellen, dizendo, bondosamente:
— Está certo. Vá com a Sra. Eccles e dê lembranças minhas a May.
A Sra. Eccles arrastou-a literalmente, segurando-lhe a mão com entusiasmo. Ellen saiu, olhando para Jeremy por sobre o ombro, atordoada, muda, incapaz de uma única palavra, os cabelos em desordem à volta do rosto atônito. Era como se tivesse acontecido um milagre e ela não pudesse compreendê-lo. Ainda havia lágrimas em seu rosto e sua boca tremia como a de uma criança.
“Quanta emotividade”, pensou Jeremy, satisfeito consigo mesmo e com sua duvidosa habilidade em manipular a Sra. Eccles. “E estou também morto de fome. Espero que as lágrimas e a histeria e os agrados não se prolonguem demais.”
Encontrou a cozinha e viu a carne suculenta e as cebolas que Ellen terminara de assar. Distraidamente cortou uma fatia e devorou-a, cantarolando um tanto roucamente. Lambeu os dedos, depois se serviu de algumas cebolas douradas. Excelentes. De vez em quando iria permitir que Ellen, a queridinha, cozinhasse para ele. Pensando bem, achava que colocara uma situação delicada nas mãos competentes da Sra. Eccles. Precisava lembrar-se de dar-lhe um presente substancial, em sinal de gratidão. Muito substancial.
Naquela noite, a Sra. Eccles mandou para seu sobrinho Francis um telegrama muito discreto.
Capítulo 9
Jeremy conseguiu um compartimento grande, quente e luxuoso no trem que saiu de Wheatfield dois dias mais tarde e que iria para Pittsburgh, Filadélfia e em seguida para Nova York. Mancando, apoiada em duas bengalas, May era ajudada afetuosamente por Ellen e pela Sra. Eccles, esta última alegre como um passarinho e falando animadamente. Quando viu o compartimento, May ficou parada à soleira, olhando com.desconfiança para os sofás, as cadeiras e as mesas, assim como para as janelas grandes cobertas de damasco. Notou também os tapetes e os espelhos. Mal podendo acreditar no que via, engoliu em seco e piscou. Dava a impressão de uma pessoa que fora profundamente ludibriada por um mágico maldoso e que a qualquer momento seria saudada por risos roucos e zombeteiros, devido à sua ingenuidade. Olhou, desamparada, para a Sra. Eccles, que disse, vivamente:
— Não é mesmo bonito? E tudo para nós. Muito luxuoso, também.
Virando-se a meio, May murmurou, aflita:
— É luxuoso... demais. Isso não é para mim, nem para Ellen, Sra. Eccles. Vamos para o vagão comum.
A Sra. Eccles adquiriu um ar brejeiro.
— E vai me deixar sozinha com este adorável, levado, encantador Jeremy Porter? — Olhou para as roupas gastas de May, para seu rosto abatido e enrugado, para o corpo curvado, trêmulo e emaciado e sentiu um novo espanto, desprezo e até mesmo cólera por pensar que uma pessoa destas e sua sobrinha podiam agora ousar entrar naquele lugar magnífico. O querido Jeremy certamente perdera o juízo!
Assim, no seu exaspero e rancor, empurrou asperamente May para dentro do compartimento, obrigando-a a sentar-se numa das cadeiras de cetim, grande e macia. Olhou para Ellen por sobre o ombro e disse, com sua antiga impaciência:
— Ellen, pelo amor de Deus, pare de olhar à volta e ajude sua tia a tirar o chapéu e o mantô, para ficar mais confortável. Precisamos estar instaladas antes que Jeremy acabe de cuidar da bagagem e não parecer umas caipiras admiradas que nunca viram nada tão maravilhoso.
— Pois bem, não vimos — replicou Ellen. — É tudo novo para tia May e para mim. Talvez fosse melhor se estivéssemos no vagão comum.
— Você... noiva de Jeremy Porter... num vagão comum? Como você é absurda, Ellen! Ande depressa.
A Sra. Eccles nada tinha de sentimental. Não acreditava em Cinderela e no príncipe, ou, se alguma vez pensara nisso, achara que o príncipe era louco. Apesar de seus sorrisos, seu ressentimento aumentou. Ah, se ao menos ela tivesse uma filha bonita, tímida e prendada, para dá-la a Jeremy! Sim, ele devia estar louco, querendo casar-se com aquela moça feia, que não tinha dotes, nem educação, com mãos grosseiras e unhas rachadas. Bastava olhar para o seu corpo, agora que ela tirara o mantô: nada elegante, nada atraente. Busto grande, cintura fina, quadris estreitos, pernas compridas! Horrível. A pele era branca demais, exceto pela cor das faces e dos lábios, o que a Sra. Eccles acreditava ser devido a alguma pintura que não saía, embora ela tivesse tentado tirá-la algumas vezes.
Ellen não queria, na realidade, ir para o vagão comum, com seu cheiro ruim, chão coberto de palha e bancos de vime. Teve pena da tia, quando lhe tirou o chapéu estragado, o mantô preto remendado e as luvas baratas de algodão. Sentia pena e amor. Sorriu para os olhos súplices de May, pensando: “Ela está muito amedrontada e inconformada; acha isso errado, que não estamos no nosso lugar, desconfia e tem medo de Jeremy, e não pode acreditar nisso, nem mesmo agora, depois de dois dias de discussões, súplicas e argumentos. Acha que se trata de uma fraude malvada e que seremos abandonadas em Nova York, sozinhas, com nossas parcas economias na bolsa e sem saber para onde ir. Não pode acreditar que Jeremy deseje realmente casar-se comigo”.
Ellen lembrou-se de como sua tia implorara e chorara, bradando que não acreditava, não podia acreditar e pedindo a Ellen: “Crie juízo, comporte-se e procure compreender que isso é impossível, não é para pessoas de nossa classe. Você devia demonstrar mais humildade. Temos um bom lar, com a Sra. Eccles, que tem sido maravilhosa para nós e nos deu abrigo; é ingratidão, Ellen, pura ingratidão, abandoná-la desse jeito. Estamos saindo de nossa classe”.
A Sra. Eccles, que ouvira isso no quarto de May, concordara alegremente, esperando que a pobre mulher convencesse a sobrinha a ficar em Wheatfield. Tivera esperança de que May se recusasse a ir para Nova York, e fora o que acontecera.
Como é que aquela menina ingrata respondera? Dissera, com uma desusada nota de determinação na voz: “Então, irei sozinha com Jeremy”. Que atrevimento, que incrível ousadia, aquela (alta de respeito pelos mais velhos! May ficara horrorizada. Agarrara a mão da sobrinha, exclamando:
— Mas é justamente isso o que ele quer, você sozinha com ele!
— Jeremy? — dissera Ellen, com olhos úmidos de alegria. — Eu iria com ele a qualquer parte do mundo, com ou sem casamento.
May e a Sra. Eccles tinham ficado consternadas, e May cobrira o rosto com as mãos, dizendo:
— Pensar que você chegou a isso, Ellen, tão impudica, tão....tão... dizendo palavras tão imodestas! Creio que ficarei aqui. — Parecia infeliz e olhara para a patroa, pedindo apoio, mas a Sra. Eccles não tinha a menor intenção de conservar May, sem Ellen. Afinal de contas, a caridade tem limites e uma pessoa precisa cuidar de si própria. Não queria que May, inválida e cada vez mais doente, se tornasse sua dependente. Ela, Hortense, tinha muitos negócios a tratar e não mantinha um asilo, nem estava disposta a pagar por serviços que não recebesse na sua totalidade.
Assim, ao perceber que Ellen estava resolvida a partir, a Sra. Eccles batera no ombro de May, dizendo:
— Não estrague a felicidade de Ellen, querida. Seria muito pouco... cristão. Desprezar uma bênção de Deus é um pecado, garanto.
A Sra. Eccles conseguira arranjar, apressadamente, uma cozinheira e uma arrumadeira para sua casa; May e Ellen tinham (icado exaustas, ensinando-lhes o serviço. A Sra. Eccles tivera uma satisfação; iria pagar a cada uma das novas empregadas dois dólares a menos, por mês. “A economia é a base da prosperidade.”
Tendo tirado o chapéu e o mantô e sentindo-se cada vez mais indignada com aquela grandiosidade, May perguntou a Ellen:
— Onde estão as suas boas maneiras, querida? Ajude a Sra. Eccles, pegue a bolsa dela e coloque-a... nalgum lugar. — Olhou vagamente à volta, estremeceu e segurou os cotovelos doloridos. A Sra. Eccles permitiu que Ellen cuidasse de seu conforto e disse:
— Vou me sentar neste banco, com o querido Jeremy. É o correto; você, Ellen, e sua tia podem sentar-se naquelas poltronas perto da janela.
Ellen achou graça, mas, depois, censurou-se por sua falta de caridade. A Sra. Eccles estava bem intencionada; mostrara-se realmente muito bondosa e solícita naqueles dias e bastante animada com as perspectivas. Era uma das poucas pessoas que Ellen compreendia perfeitamente. Desconfiava dela, mas, apesar disso, nunca a encarava sem ter uma sensação de remorso e um desejo ansioso de se penitenciar por seus pensamentos pouco generosos.
Jeremy entrou no compartimento, notou a tímida hostilidade e a desconfiança de May, a condescendência da Sra. Eccles, assim como a expressão serena de Ellen e o súbito brilho de seus olhos quando encontraram os dele. Achou graça e ao mesmo tempo ficou desapontado por ver a Sra. Eccles ocupando o lugar que ele pretendera para Ellen. Sentou-se e olhou amavelmente para as senhoras.
— Pois bem, já cuidei da bagagem e devemos partir dentro de cinco minutos — disse ele, olhando para o seu relógio.
May disse, com sua voz monótona e estridente, ao mesmo tempo:
— Todo este espaço, Sr. Porter! Poderíamos ter guardado as malas aqui. Costumam roubar coisas, nos trens. — Ao dizer isso, fez um gesto nervoso e vago.
— Não os passageiros de primeira classe — respondeu Jeremy.
May contraiu-se e olhou pela janela, quase que desesperadamente. Subia um vapor, das rodas; um guarda tocava uma campainha; a plataforma estava cheia de pessoas que acenavam para os passageiros e a locomotiva começou a roncar. May teve um impulso desesperado de levantar-se, pegar o chapéu e o mantô, agarrar Ellen pela mão e arrastá-la do trem como se fosse uma criança. “Tudo errado, tudo errado para pessoas de nossa classe”, gemeu, intimamente, pensamento com o qual Francis teria concordado com uma grave inclinação de cabeça. Jeremy notou a tremedeira e a apreensão da pobre mulher e sentiu pena dela, embora estivesse impaciente. A Sra. Eccles também notou aquelas manifestações e piscou para Jeremy, que virou a cabeça, decepcionando-a e fazendo com que ela se empertigasse.
O trem começou a mover-se e May cruzou convulsiva mente as mãos doloridas. Ellen, perto da janela, notou-o e colocou sua mão quente sobre aqueles dedos frios e deformados. May teve vontade de chorar. Tivera um santuário com a Sra. Eccles e com Ellen, uma relativa paz, mas a menina voluntariosa estragara tudo por um futuro precário, para não dizer perigoso. “Atraída para longe”, pensou May Watson, “iludida por um homem desses!” Olhou de soslaio para Ellen que, corada de prazer e de amor, fitava Jeremy.
May pensou na noite de núpcias e chorou intimamente. Jamais conhecera um homem; era virgem. Nada sabia da mecânica do sexo, exceto pelo que lhe fora sombriamente sugerido por sua falecida mãe que, ao falar sobre isso, revirara os olhos, estremecera e cobrira o rosto com as mãos. Assim sendo, May considerara o “conúbio”, conforme sua mãe dissera, como algo vèrgonhoso, horrível, degradante e doloroso para uma mulher. Pensar que Ellen, aquela menina inocente, teria que se submeter àquela coisa terrível era mais do que May podia suportar! Se a sobrinha, mais tarde, se casasse com o fazendeiro idoso que idealizara para ela, May a teria conservado como filha, vendo-a labutar virginalmente na cozinha do marido, em suas terras, em seu galinheiro e cuidando de seus porcos. Tinha a vaga ideia de que o desejo sexual deixava de existir para um homem de quarenta anos e que as mulheres jamais o sentiam. Mary sucumbira aos malvados “artifícios” de um homem e vejam em que abismo caíra! Lágrimas surgiram nos cantos de seus olhos e, cegamente, ela procurou um lenço na bolsa. Não, não podia suportar aquilo, não podia suportar!
Coquetemente, a Sra. Eccles entabulara conversa com Jeremy, que, embora cortês, se mostrava taciturno. Olhava para Ellen e ela para ele. A moça tinha um sorriso radioso e o rapaz desejava abraçá-la e amá-la. Este pensamento fez com que ele se movesse no banco, embaraçado, e consultasse novamente seu relógio.
— O carro-restaurante está repleto, de modo que dei ordem para que o nosso jantar seja servido aqui... Que é que prefere, Sra. Eccles? Sauterne, ou champanha? Vamos ter lagosta e depois faisão.
A Sra. Eccles sentiu-se lisonjeada e refletiu. Depois respondeu, brejeiramente:
— Por que não os dois? Vinho branco com a lagosta e, sim, um reluzente Burgundy com o faisão! Depois... — Bateu palmas como uma colegial encantada e continuou: — champanha com a sobremesa! Afinal de contas, isso é o prelúdio de um casamento — acrescentou, olhando para Jeremy com uma afetuosa vivacidade.
May ouviu a conversa e fez um esforço para dizer:
— Sra. Eccles, fiz sanduíches com o resto do rosbife. Ellen os preparou bem, desta vez... e trouxe o resto do bolo simples. Está tudo aqui, na minha bolsa, enrolado em panos de prato, que a senhora pode levar de volta.
Horrorizada e furiosa, a Sra. Eccles viu Jeremy estudar calmamente a sugestão. Olhou para May. Ellen reprimiu um sorriso. Segurou de novo a mão da tia e disse, com sua habitual suavidade:
— Jeremy encomendou o jantar, titia, e a senhora e eu não entendemos de vinhos.
— Há maldade num vinho forte — observou May.
A Sra. Eccles deu uma cotovelada em Jeremy, mas este, com os olhos brilhando ao sol que entrava pelas janelas, se dirigiu a Ellen:
— Você faz alguma objeção a um Sauterne, a um reluzente Burgundy e a um champanha, Ellen?
— Você sabe muito bem, Jeremy, que tia May tem razão. Não entendemos de vinhos. Você precisa encomendá-los para nós. — Voltou-se para a tia e continuou: — Não há “maldade” no vinho, tia May. Jesus, através de um milagre, transformou água em vinho, nas bodas de Canaã, e Ele bebia regularmente, como todos em Israel. O abuso de uma coisa boa é que é condenável e não a coisa em si.
“Olhe, olhe”, pensou Jeremy. “A minha querida não é tão pouco sofisticada como os outros pensam e soube escolher suas leituras.”
— Não beberei — declarou May, com a sombria teimosia de suas convicções. — E nem você, Ellen.
A moça suspirou, experimentando a sensação de culpa que jamais conseguia dominar. Mas Jeremy disse:
— Claro que tomará uma taça de champanha, Ellen. E um pouquinho dos outros vinhos. Como minha futura esposa e anfitrioa, seria muito pouco delicado recusar o que meus amigos costumam beber. Eles achariam grosseria de sua parte.
May não pôde mais dominar-se.
— Está levando a minha menina para um poço de iniquidade, senhor! Um poço de iniquidade, onde ela irá misturar-se com pessoas sem pudor, sem Deus, e bêbadas.
A Sra. Eccles deu uma nova cotovelada em Jeremy e sor-riu-lhe maliciosamente, como que dizendo: “Aí está! E você vai se casar com uma criatura desse tipo!”
— Pessoas que nunca vão à igreja, que estão condenadas ao inferno — continuou May, consternada.
Jeremy nada tinha de paciente e nunca, ou raramente, tivera paciência com os ignorantes. Dominara-se naqueles últimos dias para não responder com rudeza às lamúrias e às angustiosas suspeitas de May, porque tinha pena da velha e não queria ferir Ellen. Nem desejava isso agora, magoar a moça e obrigá-la a escolher entre ele e a tia. Sentiu de novo uma onda de desejo e lamentou ter incluído May na comitiva e prometido cuidar dela para o resto de sua triste vida. Conhecia, agora, o amor profundo e a paixão que Ellen sentia por ele; tinha certeza de que poderia tê-la convencido a instalar May no Hitchcock Hotel, em Wheatfield, onde a velha poderia viver com grande conforto e sob cuidados médicos. Previa um futuro no qual Ellen teria que aplacar a tia ou submeter-se a ela, e não queria isso para a sua amada. Ela já sofrerá bastante.
Procurou tirar da voz a rudeza natural e inclinou-se para May com ar bondoso, que não condizia com suas feições.
— Sra. Watson, garanto-lhe que meus amigos são bons e respeitáveis, embora tomem vinho às refeições, assim como dezenas de milhões de pessoas, no mundo inteiro. Muitos são mesmo cristãos e alguns são católicos.
Isso deixou a pobre May ainda mais horrorizada e ela pôs as mãos no rosto.
— Romanos! — exclamou, olhando, assustada, para a sobrinha. — Ellen, ele a levará para o meio dos católicos romanos e você sabe o que eles são!
— Que são eles? — perguntou a Sra. Eccles com uma bondade maliciosa. — É bem verdade que não são bem-vistos na América, principalmente os irlandeses, mas tenho uma amiga católica em Wheatfield (inglesa), ou talvez ela pertença à Igreja Superior Anglicana, e é uma criatura exemplar. May, você não devia ser tão intolerante — terminou a Sra. Eccles, esperando que Jeremy “estivesse começando a compreender”. Ao que lhe parecia, a expressão do rosto do rapaz indicava isso.
Mas foi com voz comedida que ele disse:
— Vamos, então, por hoje, deixar o problema dos vinhos para a senhora e para Ellen? — Olhou para a Sra. Eccles e não pôde deixar de acrescentar: — A senhora toma vinho ao jantar, não toma, Sra. Eccles?
— Regularmente, Jeremy, e May sabe muito bem disso. Você está insinuando, May, que sou uma mulher má e dissoluta?
O rosto pálido e sofredor de May enrubesceu.
— Oh, não! Sei que é uma boa cristã. Sei muito bem disso! A senhora me desculpe.
A Sra. Eccles adquiriu uma expressão amável e reclinou-se o suficiente para tocar no ombro de Jeremy com o seu.
— Pois bem, você e Ellen façam como bem entenderem, mas Jeremy e eu vamos apreciar o nosso jantar.
Ela teve certeza então de que nem Ellen nem May tinham mexido em sua adega. Desconfiara, duas semanas antes, do desaparecimento de meia garrafa de um de seus vinhos mais baratos, embora todos os seus vinhos fossem baratos. “Provavelmente foi o homem que trabalha por dia”, pensou, sombriamente. “Vou despedi-lo assim que voltar.”
Tendo obtido essa vitória pequena, mas patética, a Sra. Eccles apoiou-se no encosto de veludo vermelho e olhou para Ellen quase com orgulho. A moça parecia apenas triste e pouco confortável. Mas Jeremy lhe dirigiu um sorriso alegre e, como a alegria não era uma de suas virtudes principais, isso foi uma vitória para ele também.
“Filha de John Sheldon Widdimer, francamente”, pensou a Sra. Eccles. “Não acredito numa palavra disso, embora Jeremy, obviamente, acredite.”
O trem corria através da paisagem outonal. Olhando pela janela, Ellen se sentiu atraída pelo tom avermelhado que havia em toda parte, nas árvores, na grama, nos morros distantes. O céu a oeste era de um verde aveludado, remoto e impressionante, sobre as montanhas que, ao sol, tinham adquirido uma iridescência bronzeada. Teve consciência da beleza, apenas, com exceção, naturalmente, da presença de Jeremy, e essa presença realçava a tranquilidade e a grandeza do que via. Por seu lado, Jeremy observava o perfil da moça e de novo se maravilhou com a imaculada perfeição dos traços, sentindo-lhes o encanto e o magnetismo.
Dois garçons (de aventais brancos, que lhes chegavam aos tornozelos) entraram com várias mesinhas e pratos fumegantes. Animada e ávida, a Sra. Eccles inclinou-se para olhar os pratos e examinar também as toalhas de um branco reluzente, as flores num vaso de prata e os baldes de gelo com as garrafas de vinho.
— Oh, lagosta! Você não adora isso? — perguntou em tom extasiado. — Não como lagosta desde que estive em Nova York, há um ano. — Examinou o faisão dentro do receptáculo de vidro e gemeu de novo.
Jeremy disse de si para si que ela parecia estar no meio de um orgasmo, o que provavelmente era o que estava acontecendo — só que no estômago. May olhou para as lagostas vermelhas e com um brilho de manteiga, viu as antenas enormes e ficou enjoada, pondo as mãos na barriga e virando o rosto. Depois, quando viu o faisão sob o vidro, ergueu-se bruscamente e disse a Ellen, com voz fraca:
— Por favor, leve-me até o banheiro.
Corada de constrangimento, Ellen levou-a pelo corredor, até o banheiro. Ali, May vomitou imediatamente. Ellen lhe amparava a cabeça, sentindo-se mal, tão grande a sua piedade e a sua autocrítica. Depois que terminou, May sentou-se, trêmula, no vaso, num estado de grande fraqueza, com um suor frio no rosto, os cabelos úmidos caindo-lhe no pescoço murcho.
— Pensar que eles comem aquilo! — gemeu a pobre mulher. — Não posso voltar para lá, Ellen, enquanto estiverem comendo aquelas coisas. Não posso. E o cheiro!...
— Lagosta tem cheiro igual ao de peixe, tia May, e faisão é uma ave, tanto quanto galinha. Por favor, titia. Sei como se sente, mas é o que os ricos comem e não há nada de enojan-te nisso.
May agarrou o pulso de Ellen, com seus dedos tortos e inchados.
— Ellen, vamos descer do trem na próxima parada! Vamos dizer à Sra. Eccles que queremos voltar para casa...
Ellen disse, serenamente:
— Para casa? Para onde, titia? Nunca tivemos um lar. A Sra. Eccles bem que gostaria que voltássemos... por um ordenado menor. Não gosto dela, jamais gostei e, por favor, não me olhe assim. Durante mais de quatro anos ela pagou uma ninharia pelo nosso trabalho. Nada lhe devemos. Além do mais, nunca deixarei Jeremy. Eu morreria, se o fizesse; quase morri algumas vezes, pensando nele, durante esses longos anos. Vou me casar com Jeremy.
— Não somos da classe dele, Ellen — disse May, começando a chorar. Quando a sobrinha lhe ofereceu um lenço, May empurrou-lhe a mão, bruscamente, fitando-a com olhos úmidos. — Não somos da classe dele. Que fará você no meio dos amigos dele, Ellen? Rirão de você, uma criada fazendo-se de importante! Saberão que é uma criada, por mais elegantemente que ele a vista, com sedas, cetins, rendas e fitas. Você parecerá uma palhaça com aquelas roupas, Ellen. Olhe-se neste espelho; veja-se como realmente é, apenas uma criada procurando erguer-se acima da condição que Deus lhe deu. “O orgulho vem antes de uma queda”, é o que diz a Bíblia e é verdade. Pensei que tivesse mais juízo, Ellen.
A moça puxou para trás seus cabelos longos e sedosos, penteados à Pompadour, olhou-se rapidamente no espelho e admirou-se, como muitas vezes se admirara, do que Jeremy podia ver nela e por que motivo a queria. Depois, disse:
— Jeremy vai contratar um preceptor para mim, tia May, para eliminar as falhas de minha educação, ou, antes, dar-me a educação que nunca tive. Quer que me sinta à vontade com seus amigos.
A bonita voz tremeu. Ellen alisou a saia de flanela cinzenta, de fazenda barata, que May fizera para ela, e ficou olhando para os botões de madrepérola da blusa de algodão, para verificar se uma das casas não se abrira indecentemente sobre o busto alto e cheio. Depois examinou o fulgor do brilhante grande do anel que Jeremy comprara em Nova York e pareceu-lhe que faiscava sò para ela, com alegria e promessa. Soluçando, May notou a súbita satisfação da sobrinha e disse:
— Olhe para esse anel! Acha que está certo você ter uma joia tão cara, Ellen? Não posso acreditar que vá ter outra coisa, além de infelicidade, se você se casar com ele. Se ele se casar com você.
— Ele se casará — replicou Ellen, com paixão e amor.
— Se ao menos fosse o Sr. Francis — observou May. — Se bem que ele tenha mais juízo...
Ellen pensou em Francis Porter com afeto. Sim, ele fora amável e bondoso, fizera o possível por duas criadas sem lar e Ellen lhe era grata. Mas não pôde deixar de rir ante o absurdo de casar-se com ele. Segurou o braço da tia, dizendo:
— Você já está bem, titia. Vamos voltar. Não é delicado ficarmos fora tanto tempo. A Sr. Eccles ficaria muito feliz com nosso... nosso... desapontamento. Adoraria se fugíssemos e voltássemos para ela rastejando.
— Como é que pode falar assim de uma senhora tão boa, que foi como uma mãe para você? Uma mãe! Deus a castigará, Ellen, por essas palavras más.
Ellen apertou o braço da tia com afetuosa firmeza e fê-la levantar-se.
— Tia May, você não precisa olhar para a comida. Pode comer seus sanduíches, os que você trouxe, e tomar um pouco de chá quente — disse Ellen, impaciente por voltar para a companhia de Jeremy. Parecia-lhe que fazia horas que o deixara; ele poderia ter sumido.
— Você também não pode comer aquela coisa horrível, Lllen. Ficará envenenada. Não está acostumada. Ficará envenenada.
— Se a comida não envenenar a Sra. Eccles, não me envenenará — declarou Ellen, com um sorriso ambíguo.
May caminhou, cambaleando devido ao movimento do trem e ao fato de estar aborrecida e sentir-se mal, mas Ellen a guiou com firmeza pelo corredor, até chegarem ao compartimento. Jeremy levantou-se, olhou firme para May e depois para Ellen, que sorriu para ele. O compartimento tinha um cheiro delicioso e Ellen percebeu que estava com fome.
Enquanto Jeremy permanecia de pé, Ellen fez a tia sentar-se. A Sra. Eccles observava-as com uma malícia condescendente. Calmamente, Ellen pegou a bolsa da tia e abriu-a. Ali estavam os sanduíches de carne fria e o bolo. A moça olhou para Jeremy por sobre o ombro e não conseguiu ler sua expressão, pois ele estava tentando controlar tanto seu desapontamento como sua piedade. Se estivesse sozinho com May e Ellen, teria ido até o limite de sua capacidade de solicitude, mas a Sra. Eccles ali estava, triunfante, rindo intimamente de Ellen. Risinhos nada significavam para Jeremy; vira-os milhares de vezes no rosto de homens mais mesquinhos, como Francis Porter, homens gananciosos, cruéis, sem fibra, que se diziam da inteliguêntsia. Mas risinhos por causa de Ellen eram outra coisa. Ele teve vontade de dar na Sra. Eccles.
Tocou a campainha para pedir chá para May; depois, sem cerimônia, pegou Ellen pelo braço e levou-a para a mesa. Quando a moça tentou recuar, para ficar ao lado da tia, ele lhe lançou o seu primeiro olhar enérgico, de autoridade e de força masculinas. Ellen sentou-se à mesa. Sabia agora que nunca poderia contrariar Jeremy, mas (embora achasse isso estranho) o fascínio que ele exercia sobre ela pareceu aumentar. Lançou ao noivo um olhar submisso e ele viu-lhe o azul profundo dos olhos e licou emocionado.
Ellen ignorou a Sra. Eccles e provou a lagosta e a ave, descobrindo que eram deliciosas. Comeu com sua natural delicadeza, demonstrando o prazer que sentia. Seus olhos sempre se voltavam para Jeremy. Ele sorriu com compaixão, divertindo-se intimamente, aprovando-a, e ela experimentou a sensação, agora conhecida, de calor a invadir-lhe o corpo, o que fez com que seus seios palpitassem e ela ficasse momentaneamente sem fôlego.
Fungando de vez em quando no lenço, May mordiscou o sanduíche que trouxera e tomou chá quente, com limão, fingindo, na sua infelicidade, olhar pela janela. Mas estava desolada. Devido ao orgulho e à vaidade (crimes hediondos contra Deus), Ellen se tornara uma pessoa que ela não conhecia. Em sua vida infeliz, May sempre fora solitária, mas jamais tanto quanto agora. Tinha saudades de seu quarto nu e frio, dos cobertores grosseiros, dos tijolos quentes que Ellen lhe levava, envoltos em flanelas, para aliviar as dores que sentia nos joelhos e nos tornozelos. Desejava estar em seu “lar”. Era como um pássaro faminto expulso de seu ninho, no inverno, e aterrorizado com isso.
De costas para a tia, Ellen tomou um pouco de vinho, o que lhe deu uma deliciosa sensação de alegria e de excitação. Suas faces e seus lábios adquiriram um tom rosado. Esquecendo-se das outras duas, conversou com Jeremy com sua ingênua confiança, e ele teve impressão de que o compartimento se enchia de uma música melodiosa. Nunca a vira tão bonita, tão animada. Pensou na noite de núpcias e seu rosto moreno ficou vermelho e quente.
Depois da refeição, quando a Sra. Eccles sugeriu a May que saíssem para “um passeiozinho, para a nossa circulação, querida”, a tia de Ellen se levantou obedientemente e acompanhou a mulher que ela ainda temia e considerava sua patroa. Foram para o banheiro. Ali May se mostrou desconsolada e chorosa, agarrando o braço da Sra. Eccles.
— Leve-nos para casa, por favor, Sra. Eccles. Quero ir para casa.
A Sra. Eccles, que estivera alisando com prazer seu pompadour, interrompeu suas apalpadelas e olhou para May por sobre o ombro. Sua expressão se animou.
— Você está falando sério, May? Com Ellen, também? Ellen quer voltar para Wheatfield?
May gaguejou:
— Ellen fará o que eu disser, Sra. Eccles. Pelo menos, assim o creio.
— Falou com ela sobre isso? — A Sra. Eccles pensou, alegre, na expressão de Jeremy quando ouvisse tal notícia. Nada tinha contra o rapaz; ficara bastante ligada a ele, nos dois últimos dias, e admirava-o muito, principalmente por causa do seu dinheiro e de suas maneiras. Mas era, por natureza, intrigante, e gostava de mexericos, o que a induzira a mandar um telegrama a Francis, dando-lhe a incrível notícia. Além do mais, deplorava a “paixonite” de Jeremy por uma criada, uma moça de situação apenas um pouco mais elevada do que a de uma prostituta. E o magnífico anel de noivado a deixara morta de inveja.
— Sim, falei com Ellen, aqui mesmo, senhora — disse May com voz chorosa.
— E que foi que ela disse? — perguntou ansiosamente a Sra. Eccles.
May hesitou, depois abaixou a cabeça.
— Não disse muita coisa, senhora. Mas também não disse “não”.
A Sra. Ecclefc fitou-a astutamente.
— Bom, acho que isso quer dizer “não”, May. Conheço Ellen. Uma criatura fingida, calada, além de atrevida, desobediente e voluntariosa. Ela fará o que bem entender! Podemos apenas rezar por ela, creio eu, e irá precisar de nossas preces.
May ainda segurava o braço da outra. Seus olhos úmidos e sofredores tinham uma expressão de desespero.
— Sra. Eccles, depois do... casamento... se ele se realizar, e rezarei para que não se realize... receba-me de novo em sua casa. Trabalhei para a senhora durante muito tempo...
A Sra. Eccles libertou seu braço. (“Recebê-la de novo, sua aleijada! Uma inválida chorona, em minha casa, uma cria-i ura inútil, um peso nas minhas costas. Deve achar que sou louca, ou coisa parecida, para desperdiçar dinheiro com você.”) bançou a May um sorriso doce, afetuoso, dizendo:
— Ora, ora, May, você precisa ser sensata, mesmo que Ellen seja uma vagabundinha decidida e ignorante, fadada a sofrer depois que ele se cansar dela, isso lhe garanto. Ellen... c Jeremy Porter! É ridículo. Uma loucura. Concordo com você. Mas você precisa ficar com Ellen. É seu dever e temos que < umprir nosso dever, por maior que seja nossa tristeza, não é mesmo?
May se sentia por demais infeliz para notar os epítetos que a Sra. Eccles dirigira a Ellen. Percebeu apenas o valor das palavras, isto é, que ela precisava ficar com a sobrinha. Levantou-se com dificuldade, alisou os cabelos brancos com as palmas das mãos úmidas e voltou com a Sra. Eccles para o compartimento, tão cambaleante, que a outra de novo a desprezou e agradeceu a Deus por tê-la livrado dela.
A Sra. Eccles, que muitas vezes chorava copiosamente quando o seu pároco pedia dinheiro para as missões, agitando o lenço e notando os sorrisos afetuosos das amigas à sua volta, não teve piedade de May Watson. Podia chorar quando ouvia as histórias eloquentes do padre e principalmente quando ele falava do lamentável estado das mulheres chinesas, que andavam com os pés amarrados. Mas não sentia compaixão alguma por uma mulher que ficara doente trabalhando arduamente para ela. As mulheres chinesas e os habitantes das “selvas pa-gãs” estavam muito longe. May se achava perto, era um “fardo”, e isso era outra coisa! A Sra. Eccles era uma mulher muito prática.
Capítulo 10
May estava tonta com o ruído da Fifth Avenue, em Nova York, naquela noite outonal e chuvosa. Mas Ellen se inclinava, fascinada, observando o trânsito e a multidão, limpando o vidro da carruagem para ver melhor e sentindo uma excitação quase intolerável. “Mas já estive aqui, antes”, pensou ela. “Conheço tudo tão bem! Sei que é tolice, mas isso me parece familiar, as vitórias e os landôs reluzentes, as carruagens com flores pintadas nos lados, os cavalos brancos e os alazões dançando no calçamento de pedra, com seus arreios cantando como sinos, os cocheiros, os lampiões a gás envoltos em neblina, bailando como borboletas, as vitrinas iluminadas, cheias de joias bonitas, os vestidos e os objetos de arte, os carros, a multidão, as sombrinhas reluzentes, os homens com bengalas, as senhoras com abrigos de pele, os risos, as vozes, o ranger de rodas, as ruas vizinhas cheias de veículos impacientes, as torres pontudas e os enormes edifícios com a chuva caindo sobre eles como pedrarias, o barulho que é realmente uma música rápida, cheia de importância e de alegria, os teatros com suas arcadas e luzes brilhantes, a sensação de grande atividade — conheço tudo isso. Mas não conheço esses automóveis ruidosos, embora tivesse visto alguns em Wheatfield. Não; não me são familiares, como o resto.”
Ellen olhou para Jeremy e não pôde deixar de exclamar, com expressão deliciada:
— Já vi isso antes.
Ele segurou a mão da moça e apertou-a com força e compreensão.
May comentou:
— Como é que pode dizer isso, Ellen? Você nunca esteve em Nova York.
Jeremy mostrou à noiva as mansões dos Vanderbilt, dos Astor, dos Belmont e de outros iguais a eles. Ellen olhou, admirada, para as casas de mármore branco ou cinzento, com seus pilares e suas janelas iluminadas, notou a chegada e a saída de hóspedes risonhos. “Mas já vi isso”, pensou, lembrando-se do que o poeta Rossetti dissera: “Já estive aqui, antes”. Acima do odor de poeira úmida, de árvores e de pedras molhadas, ela podia sentir o cheiro do mar. As folhas das árvores eram como um líquido que parecia escorrer com tons de vermelho, marrom e ouro, inclinando-se e balançando-se ao vento de inverno. A Sra. Eccles exclamou:
— Amo Nova York. Sempre a mesma vivacidade. — Bo-cejou e olhou para Ellen e para May com uma expressão de ironia e de ressentimento. “Não passam de pessoas inferiores e de camponesas”, pensou. “Toda esta magnificência para tais criaturas! Sim, Jeremy deve ter perdido o juízo.”
— Preciso ir à ópera — disse ela.
Jeremy dirigiu-se a Ellen:
— Sim, creio que estão levando Aída.
Chegaram ao hotel de Jeremy. Os porteiros e os empregados de uniforme vermelho e dourado correram ao encontro da carruagem, abrindo as portas com gestos elegantes. May contraiu-se, fechando o mantô pobre, mas Ellen segurou a mão de Jeremy e pulou animadamente, olhando à volta e sentindo uma grande felicidade. A Sra. Eccles desceu mais comedidamente, ajeitando nos ombros roliços a capa de zibelina. Entraram no saguão vermelho e dourado, onde o ar era perfumado e se ouvia uma música suave. Viram mais adiante o vasto salão de jantar com seus lustres cintilantes, a roupa de mesa de um branco imaculado, os garçons de preto, as senhoras de ombros pálidos com agasalhos de pele, acompanhadas por homens ricos e elegantes. Ellen não se cansava de olhar. Estremeceu, com uma sensação de felicidade, sem ter consciência de suas roupas pobres, nem do chapéu preto e velho. Os empregados do hotel olhavam-na com um espanto disfarçado, parecendo ofendidos com a presença de May. Mesmo para criadas, pensaram eles, eram pobres espécimes! Apesar disso, a moça era muito bonita, parecendo uma atriz, com aqueles cabelos e aquele rosto.
— Sim, Sr. Porter; obrigado, Sr. Porter, aqui está a bagagem, senhor, e avisaremos a cocheira, sobre a carruagem, imediatamente.
— Jantaremos na minha saleta particular — disse Jeremy, sabendo perfeitamente que não poderia levar Ellen e May para o reluzente salão de jantar. — Meu criado, Cuthbert, preparou tudo para nós.
Até então, nem May nem Ellen tinham visto um elevador. May ficou apavorada e fechou os olhos ante a visão de andares que desciam através das grades douradas. Estava também enjoada e tonta. Não, não era direito, tudo aquilo para ela e para a sobrinha.
Caminharam por corredores atapetados de vermelho e iluminados por arandelas de bronze, de desenhos complicados, colocadas nas paredes. May parecia ficar cada vez menor, enquanto andava com espanto e consternação. Viram portas entalhadas e ouviram risos atrás delas. Depois uma porta se abriu e o grupo entrou na suíte de Jeremy. May parou à soleira, incapaz de continuar. A Sra. Eccles passou por ela, impaciente, falando animadamente, e Ellen seguiu-a. Jeremy segurou o braço de May e forçou-a a transpor a soleira de mármore.
Recebeu-os um senhor muito alto, magro e distinto, que se inclinou diante delas. No seu espanto, May achou que ele devia ser, no mínimo, um príncipe, tão majestoso lhe parecia com sua calça listrada, paletó preto e comprido, gravata preta, alfinete de pérola e camisa branca. Ela abaixou o joelho, numa pequena reverência, e olhou timidamente para o homem de cabelos brancos e rosto grave e enrugado. Oh, ele as expulsaria, a todas, ou talvez chamasse a polícia. Jeremy disse:
— Sra. Eccles, Sra. Watson, este é o meu empregado, Cuthbert.
— Boa noite, senhoras, Sr. Porter — disse o mordomo, o primeiro que May jamais vira na vida.
Ela quase se encolheu ante esta condescendência, mas a Sra. Eccles disse, alacremente:
— Boa noite, Cuthbert.
Ellen fitou-o sorrindo, muda, com uma franqueza cheia de curiosidade. O mordomo pensou: “Então é esta a moça, a namorada do Sr. Porter, e é mais bonita do que qualquer atriz que eu tenha visto ou do que qualquer senhora que tenha vindo a esta suíte”.
Ellen olhou à volta com uma avidez inocente, viu o luxo e a graça da sala espaçosa e disse, de si para si: “Vi tudo isso há muito, muito tempo”. Desejava correr pelo aposento, tocar na mobília, nas paredes forradas de seda, nos armários com objetos de arte, examinar os quadros e olhar pelas janelas altas e abauladas. Seu coração batia de excitação, com uma alegria quase insuportável. Olhou para Jeremy como uma criança enfeitiçada que descobrisse novos encantos. Ele sorriu-lhe, compartilhando o seu prazer.
Quando Cuthbert pegou uma maleta, May finalmente conseguiu falar, com um tom estridente e gaguejante:
— Oh, não, senhor! Eu mesma carrego a minha mala, muito obrigada, senhor, por favor.
Cuthbert ergueu as sobrancelhas discretamente e murmurou:
— Oh, não, senhora, estou apenas separando-a, para ser levada para sua suíte. O empregado do hotel virá buscá-la. — Inclinou-se de novo para as mulheres. — Talvez as senhoras queiram refrescar-se um pouco, antes do jantar?
May piscou, abrindo a boca. Estava atordoada pelas luzes. Depois olhou estupidamente à volta. Ellen pegou-lhe o braço e ambas seguiram a trêfega Sra. Eccles, toda vivacidade e elegância, até um dos banheiros de mármore que Cuthbert lhes indicara com outra curvatura. Ali havia sabonetes perfumados e loalhas brancas e macias. A Sra. Eccles riu alegremente, dizendo:
— Um bidê! Oh, que rapaz levado! — Trinava como uma cotovia, olhando-se num dos espelhos compridos, de moldura dourada, observando neles suas companheiras, com uma expressão de despeito. May mancava pelo banheiro como uma galinha cega e aleijada, procurando seu cantinho, até Ellen pegá-la pelo braço e fazer com que ela se sentasse num tamborete acol-ihoado. A moça afagou a face da tia, tranquilizando-a.
— Deixe-me lavar seu rosto e suas mãos, titia — disse ela. — Estamos muito sujas de fuligem, não é?
“Como ela é velhaca”, pensou a Sra. Eccles, cada vez mais despeitada. “Finge que não está surpresa, quando está tão atônita quanto a pobre May, que só sabe choramingar e sacudir as mãos como uma idiota.” Toda a bondade que a Sra. Eccles um dia sentira pelas duas havia muito se evaporara nos assomos de sua indignação. Agora sentia animosidade em relação a ambas, achando um ultraje serem toleradas ali, quando ela, Flortense, se sentia muito mais à vontade. “Provavelmente quererão usar o bidê, em vez do vaso atrás daquela porta”, pensou, aguardando maliciosamente. Mas Ellen levou a tia até a porta e abriu-a para ela, indo depois calmamente lavar as mãos. Como que não tendo consciência da presença da Sra. Eccles — o que de fato acontecia — ela soltou os cabelos abundantes, que captavam a luz do lustre. Sacudiu-os e eles caíram sobre seus ombros, seus seios e suas costas como um manto esbraseado. A Sra. Eccles disse:
— Minha querida, você precisa mesmo dar um jeito nesses cabelos ásperos. Um bom cabeleireiro, talvez, para amenizar essa cor horrível. Muito vulgar, garanto-lhe.
Mas Ellen estava apenas pensando em Jeremy e enrolou os cabelos na nuca, refazendo o penteado à Pompadour.
Jeremy servia-se de um uísque com soda, pensando, sombriamente: “Eu deveria ter deixado aquela maldita Sra. Eccles em casa. Fico imaginando o que estará ela dizendo a Ellen. Garanto que é alguma coisa desagradável”.
As senhoras entraram na sala e Jeremy teve um novo assomo de felicidade ao ver Ellen. Disselhes, sorrindo:
— Cuthbert é um ótimo cozinheiro. Aceitam um cálice de xerez, antes do jantar?
May não conseguia falar, tremendo visivelmente, mas a Sra. Eccles exclamou:
— Certamente, meu caro Jeremy! Bristol Cream, o meu predileto?
Ellen segurou a mão de Jeremy, como uma criança confiante, dizendo:
— Não entendo de xerez e nem tampouco tia May, embora tenhamos visto esta bebida em casa de sua mãe e na da Sra. Eccles. É bom?
— Para quem gosta de xerez, é — respondeu ele, com um trejeito.
Ellen riu e de novo Jeremy achou aquele som encantador.
— Nenhuma bebida forte para mim, nem para Ellen — murmurou May.
Ninguém a ouviu, nem mesmo Ellen, que estava olhando para Jeremy, fascinada. Ele levou-a para uma cadeira e fê-la sentar-se. Inclinou-se para ela, seus olhos na altura dos dela. A moçá corou e olhou timidamente para o outro lado. Mas seus seios arfavam e ela ficou perturbada, presa de emoções que eram ao mesmo tempo deliciosas e assustadoras.
Cuthbert trouxe o xerez em cálices de cristal. A Sra. Eccles aceitou um, com gesto modesto, olhando coquetemente para Jeremy, como que o censurando pela tentação. Ellen aceitou um cálice. May também pegou um, com medo de desapontar aquele homem imponente, que ela ainda não queria aceitar fosse um subalterno igual a ela, se é que Cuthbert alguma vez se considerara um subalterno. Novamente temendo ofendê-lo, levou o cálice à boca. Seus dentes batiam e o cheiro da bebida a enjoou. Olhou à volta, um tanto assustada, depois colocou o cálice na mesinha a seu lado, atrás de um abajur. Nunca vira uma lâmpada elétrica. Fixou-a como se a luz pudesse salvá-las, a ela e a Ellen, de um tremendo desastre. Seus olhos se tornaram vidrados como os de uma sonâmbula. Podia ouvir vozes à sua volta, mas tinham um som distante, como num sonho. Queria apenas dormir e depois acordar em seu quarto nu e frio em casa da Sra. Eccles, com o cobertor áspero até o queixo. Desejava chorar, tão grandes o seu desespero e o seu medo ante aquelas coisas estranhas, aquele brilho de cores, de cristal e de sedas.
Cuthbert provou que era realmente um ótimo cozinheiro, com a sopa deliciosa de cogumelos, feita com bastante creme e com vinho branco, a truta recheada de trufas, as costeletas de carneiro com hortelã fresca, as batatas num molho delicioso, as ervilhas, os pãezinhos e uma salada com molho de vinagre, queijo e um pouquinho de alho. Para acompanhar a refeição ele serviu, na sala refulgente de luzes e de pratarias, vários vinhos gelados, xícaras pequenas de café e uma musse de chocolate.
De novo atordoada, May não teria provado aquela “comida pagã”, se Ellen pela primeira vez na vida não a tivesse olhado com ar severo e súplice ao mesmo tempo. Mas aquela refeição a, revoltava, pois não conhecera outra comida a não
ser os pratos “alimentícios” dos operários e a comida pesada e grosseira das pessoas para quem trabalhara em Preston. Comia cada bocado com desconfiança e com uma sensação de perseguição. Achava que cada um deles a envenenaria. Seu estômago não fora feito para aquilo. Ela apenas tinha certeza de que, se aquela fosse a dieta de Ellen, no futuro, sua vida correria perigo. Não conhecia o termo “exaurido”, nem “decadente”, mas sabia de sua importância. Não, aquilo não era para Ellen, nem para ela; de novo sentiu um desejo ardente de ir “para casa”, quase desatando em lágrimas. Olhava com ar súplice para a Sra. Eccles, sua benfeitora, sua protetora, que sentiu de novo uma repulsa divertida. Não acompanhava May no desprezo tímido por aquelas delícias, conforme May esperava. Quanto a Ellen, não ouvia nem via ninguém, a não ser Jeremy, à direita de quem estava sentada; nem mesmo percebia o que estava comendo, nem via na mesa o centro de prata com rosas cor-de-rosa, a toalha de renda e todo aquele luxo. Tudo se tornava parte de seu amor por ele, de sua confiança e de sua sensação de paz. Em certos momentos, censurava-se humildemente por ter duvidado da magnitude de Deus, que a cumulara de tantas alegrias. Amar e confiar. Como é que ela pudera esquecer?...
Jeremy notou-lhe o cansaço, embora ela o fitasse com olhos brilhantes; viu sua inocência e sua submissão a ele e desejou-a desesperadamente, não apenas física mas espiritualmente. Sentiu que uma total comunhão com Ellen lhe restituiria as esperanças perdidas, diminuiria seu cinismo e o tornaria menos sombrio e menos pessimista em relação à sua pátria, menos envolvido em seu trabalho — dando-lhe novamente uma medida de sua mocidade e de seu otimismo. Um mundo que podia produzir seres como Ellen deveria ter também produzido silenciosas multidões iguais a ela, e nessas multidões estava a segurança que ele tinha de que homens dedicados poderiam proteger a liberdade da América contra seus inimigos: os histéricos violentos que falavam de “justiça social”, os conspiradores internacionais ocultos e poderosos que queriam anular a pátria, fartar-se de sua carne e conduzi-la à escravidão, para o engran-decimento e a riqueza deles próprios, os populistas, os socialistas, todas as vilezas disfarçadas em seres humanos que arruinariam a América e mandariam seus habitantes, “sem olhos em Gaza, para a escravidão”. Jeremy pensou: “Precisamos aqui de alguns dos antigos profetas hebreus que deblateraram contra os tiranos e incitaram seu povo a lembrar-se do que Moisés dissera: ‘Proclamai a liberdade através da terra e de seus habitantes ! ’ ”
A liberdade era um estado rigoroso, pouco confortável para a maioria das hordas, que preferiam ser “guiadas” e conduzidas. Mas alguém dissera que a liberdade era o inalienável direito dos homens. Os homens, entretanto, teriam que ser verdadeiros homens para apreciá-la e até morrer por ela. Os inimigos já tinham surgido nas pessoas de Marx e Engels, para aliviar os homens do pesado fardo da liberdade e fazer com que ficassem “protegidos” de todas as vicissitudes da vida e reduzidos a calmos animais domésticos. Exceto pela “elite”, naturalmente, que os governaria “amorosamente”, mas com severidade, sugando-os sempre, devorando suas almas e cegando-os à luz. (Em que parte da Bíblia ele lera: “Não temas aqueles que destruiriam o corpo, e sim aqueles que destruiriam a alma”?)
Pela primeira vez na vida, Jeremy considerou a visão ortodoxa que era, na realidade, Satanás disposto a destruir o homem nas pessoas dos inimigos primordiais do homem. Sorriu intimamente. Se verdadeiramente Satanás existia, então seus servos eram aqueles que afirmavam apaixonadamente que “amavam” a humanidade e sabiam o que era melhor para ela.
Ellen murmurou ansiosamente para o noivo:
— Tia May está cansada. Você nos desculpará, se nos retirarmos depois do jantar?
Jeremy olhou para May, que estava imersa numa sombria meditação, mal tendo tocado na comida.
— Claro. Daqui a alguns minutos — respondeu Jeremy. Colocou sua mão sobre a de Ellen e uma corrente poderosa e bela passou por eles, uma empatia que de repente os tornou uma só pessoa.
Jeremy levantou-se cortesmente, quando as senhoras manifestaram desejo de retirar-se. Disse que esperava que ficassem satisfeitas com as acomodações que reservara para elas. Acompanhadas por Cuthbert, as senhoras deixaram a sala, mas no último momento os olhos azuis e luminosos de Ellen sorriram para Jeremy, com amor e confiança.
A Sra. Eccles estava satisfeitíssima com sua suíte pequena, mas luxuosa. A de May e de Ellen dava para a avenida e era ainda mais suntuosa. May estava agora completamente atordoada. Uma camareira entrou para retirar as colchas de damasco, desdobrar os acolchoados e cerrar as cortinas de cetim.
May observava-a num silêncio humilde e apático, embora fizesse um envergonhado gesto de protesto quando a camareira abriu as duas maletas e dependurou as roupas pobres e amarrotadas num vasto armário de mogno todo entalhado e com puxadores e ornatos dourados. Um aquecedor a vapor chiava alegremente; o ruído do trânsito lá embaixo chegou ao quarto com um som abafado.
— Não é maravilhoso, inacreditável? — perguntou Ellen, extasiada, olhando à volta com um prazer inocente e quase infantil.
— Isto não é para nós — observou May. Havia rugas de cansaço à volta de seus olhos, que expressavam confusão, protesto e sofrimento.
Mas Ellen replicou, com a sua natural suavidade:
— Vou buscar seu comprimido, tia May, e um copo de água daquela bonita garrafa de cristal ali na mesa. Você dormirá bem e confortavelmente.
May começou a chorar.
— Quero ir para casa — disse, com soluços secos. — Quero ir para casa, com você. Por favor, venha comigo, Ellen. — Agarrou o braço da sobrinha e ergueu para ela o rosto súplice e desesperado. Toda a coragem que ela antes tivera desaparecera. A tenacidade e a determinação das pessoas de sua condição se foram, devido à dor e à sensação de incapacidade. Mas ainda tinha o orgulho de sua classe, o orgulho de conhecer seu “lugar”, o que era ao mesmo tempo uma defesa e um desafio.
Ellen replicou, com voz calma e satisfeita:
— Estou em casa, tia May. Em casa, finalmente.
Começou a despir-se, dobrando cuidadosamente a saia longa de flanela cinza, o cinto barato de imitação de couro com fivela de cobre, a blusa de algodão, agora manchada de fuligem. Dependurou as roupas e cheirou com prazer o interior perfumado do armário. May observava-a em silêncio, de vez em quarido olhando à volta. Não podia suportar aquele esplendor. Depois, disse:
— Ellen, há mais uma coisa. Você pensou no que está fazendo ao Sr. Jeremy, casando-se com ele?
Ellen olhou para a tia por sobre o ombro, atônita.
— Não sei o que você quer dizer, titia.
— Ellen querida, pense de novo. Lembre-se de que é apenas uma pobre criada, nascida para ser uma doméstica, pela vontade de Deus. O Sr. jeremy é um cavalheiro, e rico. Você não sabe nada, Ellen. É tão ignorante quanto eu. Está desambientada aqui e mais ainda na vida dele, minha pobre menina. Ele tem amigos ricos e importantes; pense no que dirão e como irão rir, e ele é um homem orgulhoso, como você bem pode ver. Farão com que ele se envergonhe, com que compreenda... Ellen, se você... se você... o ama, não deve casar-se com o Sr. Jeremy, para o bem dele. Deve renunciar a seu egoísmo. Não torne um homem como ele infeliz. Casando-se com ele, você o tornará infeliz e o envergonhará. Não pode fazer-lhe isso, não pode, se ligar um pouquinho para ele. Não é justo.
Era um aspecto que Ellen jamais considerara. Olhou para May com expressão vazia e foi ficando pálida e rígida. Sentada na cama magnífica, May inclinou-se ansiosamente, pois vira a expressão de Ellen e suas esperanças cresceram.
— Ele irá longe, Ellen, conforme a Sra. Eccles nos disse inúmeras vezes. Talvez chegue até Washington. Ou, no mínimo, a governador. Isto é, se você não se casar com ele. Mas as pessoas, as pessoas importantes pensarão que, se ele se rebaixou a casar-se com uma criadinha, então não é o homem para elas, e o abandonarão e procurarão um outro mais sensato. Não vê, Ellen? O Sr. Jeremy é do tipo que quer fazer grandes coisas, ser alguém. E você estará no caminho dele, querida, e ele chegará a odiá-la e a odiar-se a si próprio. Como é que você poderia ser a anfitrioa da casa de um homem destes? Mesmo que ele lhe arranje um preceptor. Ninguém pode fazer uma bolsa de seda com a orelha de um porco.
Ellen sentou-se em sua cama e deixou a cabeça cair no peito.
— Tia May, você acha mesmo que eu o prejudicaria, casando-me com ele?
— Oh, sim, querida! Conversei com a Sra. Eccles, que é uma mulher sensata. E ela disse: “Pobre Ellen, descobrirá quando for tarde demais”. Sei que você não gosta dela, mas a Sra. Eccles conhece este mundo e tem pena de você e do Sr. Jeremy.
Ellen sentiu uma onda de angústia e de desespero. Comparada com essa agonia, a tristeza de sua vida curta nada fora, nem mesmo nos quatro últimos anos. Como é que poderia viver sem Jeremy, como poderia ir-se embora e nunca mais vê-lo? Sentiu falta de ar. Mas... como poderia arruinar a vida de Jeremy, casando-se com ele, tornando-o um pária no meio de seus amigos poderosos? O amor fizera com que ela percebesse a força de Jeremy, sua ambição e sua determinação. Reconhecera estas coisas instintivamente. Jeremy nunca se contentaria em ficar na obscuridade, em ser um mero advogado, embora fosse rico. Seria ela um obstáculo a uma vida mais nobre e mais distinta de Jeremy? O amor que sentia pelo noivo acabaria não sendo nada, ou apenas um obstáculo às aspirações dele? Iria Jeremy desprezá-la? Sim, era possível.
“Mas não posso viver sem ele”, refletiu, amargurada. Depois, teve outro pensamento: “Como ousarei ser um obstáculo na vida dele? Quem sou eu, comparada com Jeremy, o meu querido? Nada sou. Ele é tudo que existe”.
May observ.ava-a atentamente. Ellen, desesperada, passou as mãos nos cabelos com tal violência que eles caíram sobre seus ombros. May não se achava cruel. Amava a sobrinha; acreditava sinceramente que poderia salvar Ellen da desgraça, do tormento de erguer-se “acima de sua situação na vida”. Pois May não afastara sua irmã Mary daquele homem que quisera casaf-se com ela, o tal John Widdimer? Não salvara Mary de um desastre? Era uma pena Mary ter morrido de tristeza e de parto, e John Widdimer ter sido morto por um cavalo. Mas antes isso do que uma vida de sofrimento e desavenças e, finalmente, de infelicidade total! No fim, ambos tinham conseguido paz, embora na sepultura. Assim como muitas pessoas do seu tipo, May acreditava que, como a sepultura era sempre o destino do homem, era melhor estar morto do que viver sofrendo. Toda a sua vida se centralizara em hinos e aforismos sobre a morte e sobre cemitérios. Embora não fosse mais religiosa, acreditava que o túmulo era preferível à existência. Sempre que tinha tempo, visitava túmulos, suspirando sentimentalmente e tocando nas lápides com mão desejosa. Sua mocidade fora cheia de hinos à morte, e um dos hinos de que se lembrava com mais amor dizia: “O berço está vazio, a criança se foi!”
Se Ellen tivesse morrido ao nascer, May teria tido um estranho consolo, uma coisa sentimental da qual se lembraria com suspiros e olhos chorosos e confidências aos conhecidos. Mas Ellen não quisera morrer com a mãe. Sem se dar conta disso, May ficara ressentida com aquele vigoroso desafio, aquela determinação de viver. Agora, também inconscientemente, ela se ressentia mais ainda com as perspectivas de felicidade para a sobrinha. De certo modo, aquilo não era “apropriado”. Ellen roubara à tia uma triste razão de viver com suas ternas reminiscências. Roubara-lhe riquezas emocionais. Não tinha meios de compreender a complexidade das motivações da tia. Ellen ficou sentada na cama, de cabeça baixa — uma trágica figura de desolação.
May sentia-se vitoriosa e animada, e sua tristeza era quase sexualmente excitante. A infelicidade, com suas lamúrias e sua panóplia, era a suprema dignidade dos pobres.
— Vamos para casa amanhã — pediu ela. — Vamos voltar para Wheatfield, de trem, com a Sra. Eccles, para aquela casa bonita. Éramos tão felizes, lá!
— Felizes? — exclamou Ellen. — Eu nem mesmo estava viva.
Relembrou toda a sua vida infeliz, sua fome de amor, de proteção, de contentamento, de um pouco de beleza, de sossego, de intimidade. Jamais compreendera a resignação de pessoas como sua tia, a aceitação farisaica da desgraça e da pobreza. Não sabia que havia nisso uma satisfação perversa, um prazer sensual, uma sensação de importância por ter sido a pessoa escolhida para submeter-se a um determinado destino. Certa vez, Ellen adivinhara isso vagamente e ficara revoltada. Jeremy reconhecera nela uma alma de aço, uma recusa em ser dominada pelas circunstâncias, embora ela com sua mocidade, não soubesse disso. Sabia apenas que seu espírito se contraíra ante as trivialidades servis de May, e a rebelião a tornava sagaz. Mas esta mesma rebelião a enchera de remorsos, pois ela ferira May. Seus pensamentos se tornaram sombrios, confusos e caóticos, cheios de uma crescente agonia.
— Não tenho muito tempo para viver, Ellen — disse May, com voz lamurienta. — Por sua causa e pela minha... vamos voltar para o lugar ao qual pertencemos. Somos pessoas pobres e simples. Nunca vale a pena a gente tentar sair de nosso lugar.
Ellen repetia a si mesma, inúmeras vezes: “Não, não posso feri-lo. Jeremy, Jeremy. Ele teve pena de mim e procurou ajudar-me. Como é que posso pagar-lhe com a ruína? Jeremy, Jeremy”.
Levantou-se, trêmula e confusa. Seus cabelos caíam à volta do rosto pálido, de lábios trêmulos. Mas ela disse, com suficiente calma:
— Tomou seu comprimido, titia?
Sabendo de sua vitória, May inclinou a cabeça quase com alegria e com ar conciliador.
— Sim, querida. Vamos dormir e iremos para casa amanhã. Está tudo resolvido, não está?
— Sim, está — respondeu Ellen, ajudando a tia a despir-se. Por um momento, observando a sobrinha, May sentiu uma dor no coração. A moça era a imagem da própria morte. -— Sim, está tudo resolvido — repetiu Ellen.
Finalmente em paz e suspirando profundamente, May pegou logo no sono. Ellen ficou ao lado da cama, vendo as rugas de dor desaparecerem do rosto da tia. Que era a vida dela, Ellen, comparada com a tranquilidade de May e com os triunfos de Jeremy? Nada. De repente se sentiu exausta, uma exaustão do espírito e da mente, que a deixava atordoada. Viu-se obrigada a deitar-se na cama ao lado da tia. Encostou a cabeça no lençol, incapaz de mover-se por muito tempo.
O quarto barroco estava cheio de vasos de rosas, crisântemos e samambaias; o cheiro fez Ellen ter ânsia de vômito, ali deitada a meio na cama de May. O ruído do trânsito chegou até o quarto, parecendo agora um coro diabólico, zombando dela. As cortinas de cetim moveram-se levemente; tinham o formato e as distorções da agonia. A própria mobília atormentava-a, rangendo: “Aqui não é o seu lugar. Você é uma intrusa... na vida dele. Fuja!”
May começou a roncar, sob o efeito do sedativo. Ellen levantou-se. Enrolou maquinalmente os cabelos. Com mãos desajeitadas, vestiu a blusa e a saia de flanela. Depois, silenciosamente, saiu do quarto e subiu os quatro lanços de escada até a suíte de Jeremy, com expressão resoluta no rosto, embora lhe tremessem os joelhos, apesar do suor frio no corpo. Não lhe ocorrera tomar o elevador. Uma frase irônica soava em sua mente: “Bela filha de Toscar”. Ela emitiu um som de auto-desprezo.
Capítulo 11
Jeremy Porter estava sentado em sua pequena biblioteca, de pijama de seda e com um magnífico roupão chinês preto e dourado, tomando uma bebida, quando ouviu uma batida à porta. Olhou para o relógio sobre a lareira, viu que eram mais de onze horas e ficou imaginando quem seria. Fazia uma hora que Cuthbert saíra. Levantando-se e espreguiçando-se, mg£ desconfiado, Jeremy abriu a porta cautelosamente, deixando a corrente. Depois, exclamou:
— Ellen!
Tirou a corrente e escancarou a porta, segurando as mãos frias da moça e puxando-a para dentro, incrédulo e excitado de uma maneira quase insuportável. Depois, quando ela já estava no quarto, notou-lhe a extrema palidez, os olhos abertos, os cabelos em desordem e sentiu que as mãos dela estavam úmidas e que os lábios desbotados tremiam.
— Que aconteceu, meu amor? — perguntou, puxando-a para si. Ellen não resistiu. Colocou a cabeça no peito de Jeremy como alguém que estivesse muito ferido e precisasse de repouso. Ele lhe alisou os cabelos, amparando-a e percebendo que ela estava a ponto de desmaiar. Pesava nos braços dele, estava de cabeça caída. Jeremy não podia ver-lhe o rosto. Mas seu braço, à volta da cintura dela, podia sentir as vibrações do corpo da jovem, vibrações fortes e incontroláveis, embora ela procurasse dominar-se. Jeremy ficou alarmado. Levou-a até uma cadeira e fê-la sentar-se. Ajoelhou-se e segurou-lhe as mãos, aquecendo-as nas suas.
— Que aconteceu, querida? — perguntou de novo, e a sua voz pareceu despertá-la.
Ellen olhou para Jeremy e o rapaz notou a agonia nos olhos dela. O rosto pálido estava tenso, com uma brancura de mármore e uma expressão de calmo desespero e de renúncia.
Ela falou com serenidade e determinação:
— Vou-me embora amanhã, Jeremy. Vou voltar para Wheatfield com minha tia.
O rosto do rapaz adquiriu uma expressão terrível.
— Ah, é? Posso perguntar por quê?
— Porque não posso casar-me com você, Jeremy.
Ele levantou-se e acendeu um cigarro com uma calma deliberada. Ellen ficou observando-o e o rapaz podia perceber que ela estava agoniada. Jeremy era um estranho para ela, agora, alguém que ela jamais conhecera. Ela sabia apenas que ele estava furioso. Estremeceu. Teve uma aguda consciência de tudo na sala: dos livros nas estantes, da lareira, dos abajures, dos tapetes grossos. Os lambris pareciam fitá-la com hostilidade. O relógio bateu as horas e Ellen teve a impressão de que ele fazia isso com sarcasmo.
Depois percebeu que Jeremy a fitava com seus olhos negros, não mais com amor, desejo ou compreensão. Eram os olhos de um inimigo, um perseguidor. Mas ele falou com bastante calma.
— Você ainda não me disse qual o motivo.
Ellen desviou o olhar e respondeu:
— Porque eu o amo, Jeremy.
Ele começou a andar pelo quarto, parando de vez em quando para ajeitar um livro ou endireitar um papel na escrivaninha. Era como se não a visse. Ellen sentiu que poderia levantar-se e partir sem que ele se apercebesse disso. Sua dor se tornou intolerável. Obrigou-se a falar alto.
— Jeremy, se me casasse com você, eu o arruinaria.
Ele estacou, olhando-a por sobre o ombro como se ela fosse um objeto curioso, que não deveria ser levado a sério.
— Quem lhe disse isso? A Sra. Eccles?
— Não. Não. — Ellen hesitou, depois começou a torcer as mãos. Jeremy notou que as juntas estavam lívidas. — Foi minha tia... ela me fez ver que era... impossível. Que seria um desastre para você. Que eu estava sendo egoísta, que não o estava levando em consideração, nem você e nem sua carreira. — A voz de Ellen estava contida, quase indiferente. — Minha tia tem razão. Nunca pensei nisso antes.
Jeremy ficou rubro. Aproximou-se dela e perguntou:
— E você acreditou nessa estupidez?
A moça então saiu de sua apatia, dizendo apaixonadamente:
— Não é estupidez! Quem sou eu, comparada a você? Seus amigos, as pessoas que poderiam ajudá-lo ririam de você por casar-se comigo, uma criada... Poderiam prejudicá-lo, Jeremy. Você poderia casar-se com uma mulher importante, uma dama, uma moça bonita e não comigo, que nem mesmo sou bonita para agradar a seus amigos. Não sou ninguém.
Enquanto ele a fitava estarrecido ante semelhante ingenuidade, Ellen mostrou-lhe as mãos estragadas, como as mostrara a ele mesmo, no parque, em Wheatfield.
— Olhe para elas, Jeremy! As mãos de uma pessoa que labuta, uma escrava. Olhe para o meu rosto, meus cabelos, meus... pois bem, meus pés grandes... meu corpo. Todo mundo vai rir e ficar admirado e perguntar... — A voz doce tremeu. Ellen não podia suportar a expressão estranha, a incredulidade que notou nos olhos dele. Jeremy percebeu-lhe a inocência do perfil. Na blusa, logo abaixo do decote, via-se um camafeu barato.
Puxou uma cadeira para perto dela e inclinou-se, sem tocá-la.
— Ellen, acabo de descobrir uma coisa sobre você e não é nada lisonjeira. Você é uma tonta, minba menina, e não há nada que eu despreze mais do que uma pessoa tonta.
Ela contraiu-se, mas não respondeu.
— Eu tinha melhor opinião de você, Ellen. Pensei que fosse inteligente e que tivesse bom senso.
Ela sacudiu a cabeça lentamente.
— Não, não. Sou estúpida por ter pensado que poderia casar-me com você e talvez fazer com que fosse feliz.
Elé ficou em silêncio, observando-a atentamente. Depois começou a sorrir. Levantou-se e segurou-lhe as mãos. A moça tentou resistir, mas o calor e a força das mãos de Jeremy a abalaram e ela começou a chorar, com lágrimas lentas e silenciosas. Teve medo de que Jeremy largasse suas mãos e a privasse do conforto e da segurança que sentia novamente. Não pôde resistir; encostou a cabeça na coxa dele e pensou que fosse morrer.
Jeremy olhou para os cabelos brilhantes, para a covinha do queixo de Ellen. Depois deu uma risadinha. Quase rudemente, fê-la levantar-se.
— Venha para o outro quarto comigo.
Quase a arrastou, e ela se deixou conduzir sem resistência. Jeremy levou-a para o quarto de dormir, grande, com mobília escura e brilhante, cortinas cor de vinho, tapetes Aubusson e vários artigos de prata numa penteadeira enorme. Havia ali um espelho de corpo inteiro. Um abajur estava aceso. Ele acendeu outros, até o aposento ficar inundado de luz. Depois, rudemente, pegou a blusa de Ellen e desabotoou-a.
Ela ficou parada, não compreendendo bem o que ele estava fazendo. Como uma tola, sem perceber o que se passava, viu-o puxar-lhe a blusa e deixá-la cair no chão. As mãos de Jeremy moviam-se rapidamente e a moça observava-o com uma espécie de estupor. Ele tirou-lhe o cinto, deixando-o cair, e também a saia de flanela e as três saias de baixo, uma de lã cerzida e as outras duas de algodão grosseiro. Inclinou-se para tirar-lhe os sapatos, as ligas, as meias pretas e depois riu maciamente, beijando-lhe o umbigo. Ela teve um sobressalto, recuou, estremeceu, percebeu que uma onda de calor a invadia e sentiu-se tomada de uma deliciosa fraqueza. Cobriu os seios com o braço e colocou uma das mãos sobre o sexo nu, no conhecido gesto das virgens, ao mesmo tempo consternado e submisso.
Ele segurou-a pelos ombros e empurrou-a com força para diante do espelho. A moça olhou para o seu reflexo, toda a sua carne nua estremecendo, os cabelos caindo-lhe nos ombros. Pegou um punhado e colocou-o depressa sobre os seios.
Jeremy ficou um pouco afastado e examinou a perfeição do corpo branco e jovem, as sombras rosadas de cada curva. Ela era muito mais deliciosa e bela do que ele imaginara e isso o enterneceu.
— Meu doce amor, olhe para sua imagem — disse. — Nunca se olhou, antes? É cega? Acha que um homem não iria querê-la, sua idiota?
Agora ela corou, envergonhada de sua nudez, não podendo olhar para o espelho e nem para Jeremy. Inclinou-se rigidamente, procurando esconder o corpo, e começou a apanhar suas roupas. Mas o rapaz chutou-as sem cerimônia. Ela soltou um gritinho e ficou de cócoras, cobrindo-se com os braços. De repente sentia pavor de si mesma e de Jeremy.
Ele olhou-a por um ou dois minutos. Depois, fê-la erguer-se, levou-a através do quarto e atirou-a na cama coberta de damasco, com colunas entalhadas. Seu rosto estava congestionado e isso assustou e ao mesmo tempo excitou Ellen, que não sabia por que motivo estava excitada e por que o toque das mãos dele a queimava e a fazia vibrar. Ele fê-la virar-se, erguendo-lhe as pernas para tirar a colcha, e empurrou-a para dentro dos lençóis brancos. Ellen fechou os olhos, trêmula e muda, procurando desesperadamente cobrir-se com seus cabelos longos.
— Olhe para mim! — ordenou Jeremy. Ela não lhe reconheceu a voz, porque ele estava ofegante. Abriu os olhos e viu-o acima dela, completamente nu. Seus ouvidos começaram a zumbir, sua carne a tremer.
— Ellen? Você me ama? Confia em mim?
Ela podia apenas fitá-lo com olhos medrosos e Jeremy leu ali a resposta, tímida e desamparada, mas, apesar disso, convidativa.
— Minha mulher — disse Jeremy. — Minha mulher querida, estúpida, ridícula. Minha tolinha.
As luzes estavam acesas, mas para Ellen o quarto ficou escuro, tornou-se quente e tempestuoso, sem luz, sem forma. Ela estendeu desajeitadamente os braços e enlaçou Jeremy, puxando-o para o seu corpo. Sentiu uma dor súbita e aguda, que era também deliciosa, e um murmúrio nos ouvidos, incoerente. Entregou-se, dominada por uma alegria incompreensível, uma paixão desconhecida.
A Sra. Eccles tomava seu desjejum confortavelmente, feliz devido à sensação de contentamento no estômago e na barriga, sensação sensual. Ela podia dar e geralmente dava toda a sua atenção à volúpia de comer, mais do que a qualquer outra exigência do corpo. Exceto pelo dinheiro, era de comida que ela mais gostava e aquela estava excelente. Seu médico a prevenira de que tivesse cuidado com a vesícula, de modo que ela era prudente, tendo encomendado apenas ameixas cozidas e figos (para “eliminar”), uma pequena porção de fígado ensopado com toucinho, dois ovos, uma cestinha de bolinhos besun-tados de manteiga, um delicioso peixe cozido, geleia de laranja, geleia de ameixa e de goiaba, além de um bule grande de chocolate, “com apenas um pouquinho de creme batido” e bastante açúcar. Havia também uma garrafa de conhaque, para “estimular a circulação”. Degustando o conhaque e comendo delicadamente as últimas migalhas do sexto bolinho com geleia, o que fazia com o dedo indicador dobrado (admoestador), ela reclinou-se na cadeira de veludo e descansou, enquanto o estômago começava lentamente a árdua tarefa de uma digestão quase voluptuosa. Para não dificultá-la, ela não pusera o espartilho de barbatanas e sua figurinha rotunda se esparramava tranquilamente sob o roupão bordado, de seda azul-forte.
Olhou o bule de chocolate. Chocolate era muito “saudável”, e ficou refletindo se deveria encomendar mais um bule. Seu rosto redondo estava corado e satisfeito e ela se esqueceu de Ellen e daquela miserável criatura, May Watson, enquanto falava consigo mesma. Afinal de contas, fora uma refeição muito frugal. Estava a ponto de puxar o cordão da campainha, enquanto sorria com um leve ar de censura, sacudindo a cabeça, quando ouviu uma firme batida à porta. Ah, o garçom chegara. Ela faria a encomenda, embora de novo se censurasse afetuosamente.
— Entre — disse, quase cantando. (Nada de creme; estava decidido. O chocolate já era bastante rico.)
A porta abriu-se. Não era o garçom. Era Francis Porter. A Sra. Eccles sentou-se bruscamente, consternada e surpresa.
— Bom dia, tia Hortense — disse ele, com um leve sorriso. Seu rosto e suas mãos estavam limpos, mas as roupas tinham manchas de uma viagem recente. — Está admirada?
— Oh, Francis — disse ela. Uma coisa era planejar uma travessura, devido ao entusiasmo e à malícia, e outra era confrontar o resultado. Ela sentiu uma pontada de ressentimento ante a inesperada aparição. Em nome de Deus, que estava Francis fazendo ali?
Ele entrou e fechou a porta. A tia fitou-o quase que com antipatia e seu ressentimento aumentou. Como o rapaz se parecia com um professor pedante! Estranho que ela nunca o tivesse notado. Francis agora usava pincenê; seu cabelo louro ficara mais ralo e estava penteado severamente; a boca tinha uma expressão tensa e intolerante. O nariz fino ficara mais agudo, o corado das maçãs salientes diminuíra, a pele tinha um tom desbotado. De repente a Sra. Eccles deixou de gostar dele. O rapaz tinha de fato uma aparência muito pedante.
Francis deu-lhe um beijo seco, ao qual ela não correspondeu. Agora estava alarmada. Que é que Jeremy, o querido Jeremy, iria dizer, quando soubesse que Francis aparecera provavelmente devido ao telegrama travesso que ela lhe enviara? Por mais que gostasse do sobrinho, fazia parte da natureza da Sra. Eccles desconcertar as pessoas. Isso a deixava alegre. Agora ela estava zangada e moveu-se, irrequieta, na cadeira.
— Que diabo de coisa está fazendo aqui, Francis? — perguntou, com voz petulante.
Ele ficou surpreso. Os olhos da tia o encaravam com descontentamento.
— Mas você me mandou um telegrama, tia Hortense! Que esperava que eu fizesse? Você me telegrafou que meu primo Jeremy induzira a pobre Ellen a vir para cá com ele, para casarem-se... Casarem-se! Claro que ele não pretende casar-se com ela! Você deve saber disso. Pensei que soubesse. Pensei que fosse por isso que tivesse mandado o telegrama, para que eu viesse e impedisse a... a... violação de uma criadinha inocente por um sedutor brutal. E para que eu a levasse, juntamente com você, de volta a Wheatfield.
Ela quase o fulminou com o olhar.
— Creio que me compreendeu mal, Francis. Acha que eu estaria aqui, acompanhando Ellen, se fosse isso o que ele desejasse? A tia da menina está também aqui. Eu... eu apenas pensei que você deveria saber, já que foi quem a mandou para mim. Sinto-me como uma mãe, para ela. Apenas achei que você deveria saber. Não que eu aprove o casamento de Jeremy Porter (afinal de contas, ele é seu primo) com uma criada. Apenas achei que você deveria saber, porque foi tão bom para ela.
— Você acha realmente que ele quer casar-se com Ellen?
A Sra. Eccles encolheu os ombros, levantou as mãos e deixou-as cair.
— Não sou homem. Como posso saber o que se passa na mente de um homem? Pelo menos foi o que ele me disse que pretende fazer. Mas, talvez... — Ela se animou de repente e terminou: — talvez se case com ela fraudulentamente. Você compreende? Um dos amigos dele, fingindo-se de padre ou de juiz. Ou qualquer coisa assim.
Ela riu e levantou o dedo para o sobrinho.
— Vocês, homens! Mas é só isso o que aquela menina merece, procurando atrevidamente erguer-se acima de sua condição. Não que eu não tenha pena dela e de seu futuro, que provavelmente será a rua, conforme Agnes Porter me escreveu inúmeras vezes.
Francis refletiu. Perguntou, em tom áspero e amargo:
— Onde é que esse famoso casamento deverá realizar-se?
A tia fez um gesto de descaso.
— Na prefeitura, daqui a quatro dias, depois que ela tiver um enxoval decente. Vão passar a lua-de-mel na Europa.
Francis levantou-se, enfiou as mãos finas nos bolsos da calça e começou a andar pela sala, com a cabeça de “professor” inclinada, os músculos do rosto vibrando.
— Se for na prefeitura e você e a tia de Ellen estiverem presentes, assim como os funcionários, então não será fraudulento. May é bastante inteligente para exigir uma licença de casamento e aquilo que ela chamaria de “votos de casamento”. Se for na prefeitura, será legal.
— Oh! — exclamou a Sra. Eccles, desapontada. — Pois bem, se você veio por causa de meu telegrama, que é que pretende fazer?
— Impedir o casamento, é claro. — Francis estava diante dela, tenso. — Eu trouxe comigo a mãe dele. Achei melhor. Talvez ele a ouça.
— Agnes Porter? Jeremy não a vê há um ano. Ela está desolada; escreveu-me que ele tem evitado, os pais! Jeremy não dará ouvidos a Agnes.
— Estamos hospedados aqui no hotel. Chegamos há uma hora, juntos. Talvez Ellen me dê ouvidos. Garanto que sim. Ela sabe que cuidei de seu bem-estar durante todos estes anos e que fiz o possível por ela. Pensei que fosse uma menina sensata, apesar de sua inocência, ignorância e simplicidade. E falta de traquejo social. Afinal de contas, sua condição... — Francis sacudiu a cabeça. — Não creio que seja difícil para mim convencê-la de que está fazendo uma coisa errada e estúpida... subir de posição social, que é provavelmente o que ela acha que está fazendo. Ou então ele a está enganando. Conheço-o bem, sua crueldade, sua falta de coragem e seu desprezo pelos infelizes. E Ellen é uma pequena muito infeliz e iludida. Pretendo convencê-la a voltar para sua casa, tia Hortense, que é o lugar dela. Quanto a May, agora que está incapacitada, deverá ir para o hospital do condado. Farei Ellen compreender essas coisas sensatas.
A tia fitou-o, pensativa.
— Pois bem, isso seria melhor para Ellen. Mas, como foi tão ingrata conosco, tão teimosa, só poderá voltar para minha casa por um ordenado menor, como castigo. Que mais pode ela fazer? Não tem dinheiro. Por mais estúpida que seja, deve compreender que seu lugar é em minha casa, sob meus cuidados, onde estará protegida. Do contrário, a rua será sua alternativa. — A Sra. Eccles se esquecera por alguns momentos de que Ellen ia casar-se com Jeremy. Lembrou-se então e ficou de cara fechada. — A não ser que seu primo se case com ela, mas ainda acho que é uma fraude.
— Não é. Mas que vida terrível ela terá, depois que Jeremy se cansar da ignorância dela! Ellen mal sabe ler, não é? Ele a abandonaria como...
— Um trapo — completou a Sra. Eccles. — Sim. Pois bem, é só o que ela merece. Não sei por que nos preocupamos com ela, realmente não sei, caro Francis. Você precisa ser muito severo com Ellen e não lhe falar com a sua habitual solicitude. Ela lhe obedecerá. — Os olhos da Sra. Eccles brilharam em antecipação.
Francis ergueu as mãos num gesto de veemência incomum nele.
— Jeremy deve estar fora de si, ele, um rapaz rico, um Porter, e ela uijia criada! Posso compreender um pouco Ellen. Deseja luxo, pois gente do seu tipo, lamento dizê-lo, é vulgar, avarenta e não entende o que é correto e apropriado e deseja lutar para se elevar acima de sua condição. Sim, vulgar. Estou decepcionado por ver que Ellen demonstra a vulgaridade de sua classe; tinha-a em melhor conta.
A Sra. Eccles de repente se lembrou do que Jeremy lhe contara a respeito de John Widdimer e da falecida Mary Wat-son. Inclinou-se de novo para o sobrinho, com expressão maliciosa.
— Sabe o que o pobre e iludido Jeremy me disse? Não, não! Não devo contar-lhe. Prometi. É algo que se relaciona com Filadélfia. Mas dei minha palavra.
Francis corou.
— Sei de tudo, tia Hortense. Também andei investigando. Receio ser verdade. Cheguei mesmo a pensar em contar a Ellen, a fim de mostrar-lhe que destino espera as criadas que têm a pretensão de erguer-se acima de sua condição.
— É realmente verdade, Francis?
— Claro que é verdade — respondeu ele, impaciente. — Gastei centenas de dólares investigando.
— Por que fez isso?
— Por causa de algo que meu pai disse, há muito tempo, em Preston, a respeito de um retrato da mãe de John Widdimer. Eu queria provar que não era verdade. Em todo caso, isso não invalida a posição de Ellen. Ela herdou todos os defeitos e as falhas de sua classe, a classe de sua mãe e de sua tia. Avareza. Esperanças pouco realistas. Sim, estou decepcionado com Ellen.
— Você sabia do quarto de milhão de dólares que John Widdimer deixou para seu “rebento”, legítimo ou não?
Francis ficou atônito.
— Não, não sabia.
— Pois bem, Jeremy sabe. Ele mesmo me contou. Mas não contou a Ellen. Diz que jamais o fará.
Francis de novo mal pôde acreditar.
— Por que não?
— Não sei, realmente — respondeu a Sra. Eccles, encolhendo os ombros. — Ele disse alguma coisa, mas não me lembro o que foi.
Francis não podia compreender que alguém não ligasse para dinheiro, por mais rico que fosse.
— Jeremy pretende receber esse dinheiro, o dinheiro de Ellen, para si mesmo, depois do casamento! — A voz de Francis, geralmente suave e contida, adquirira uma nota envenenada.
— Você vai contar a Ellen depois que ela voltar conosco para Wheatfield?
O rapaz torceu as mãos.
— Não. Isso apenas a tornaria ousada e ela exigiria o dinheiro, esquecendo-se de que é apenas uma criada, e depois o gastaria... vivendo desregradamente e acabando pobre outra vez. — Francis estava refletindo rapidamente; suas pálpebras vibraram, enquanto ele fitava o tapete.
— Ela não teria oportunidade de gastá-lo, casando-se com Jeremy. Vocês, da família Porter, têm muito cuidado com o seu dinheiro.
Francis refletia ainda mais profundamente. Empalideceu. Olhou à volta, os pensamentos correndo por sua mente como camundongos. Loucamente, chegou a certa conclusão e umedeceu os lábios. Ellen e todo aquele dinheiro! A linda Ellen e aquele dinheiro! Qualquer homem ficaria ansioso por casar-se com ela. Ouviu-se outra batida à porta e a Sra. Eccles disse, impaciente:
— Oh, entre!
Agnes Porter entrou pesadamente, muito agitada, o rosto gordo e inchado tremendo, os olhos desbotados piscando. Com as vestes em desordem, estava ofegante, dando impressão de medo. Os anos tinham sido cruéis com ela. Estava imensa e disforme, os cabelos quase completamente grisalhos. Os dois queixos tinham se transformado em três. Seu pompadour estremecia. O vestido de merinó vermelho tinha panos drapeados, era volumoso sobre os seios e sobre os vastos quadris. Ela não tinha formas. A gorducha Sra. Eccles parecia quase esbelta, comparada com Agnes, e certamente estava mais controlada, mais arrumada, mais bonita e parecendo mais moça.
— Agnes! — exclamou ela. — Deus do céu, você está num estado!... Francis, faça sua tia sentar-se. Ela está para desmaiar, coitadinha.
Agnes Porter apertava as mãos. Desatou em lágrimas. Olhou à volta, como se não soubesse onde estava. Não cumprimentou ninguém. Agora estendia as mãos, como quem estivesse para se afogar.
— Deus do céu, Deus do céu! — gemeu ela. — Onde está meu filho?
— Oh, sente-se, Agnes, e domine-se — disse a Sra. Eccles, ávida por infortúnios e coisas dramáticas. — Sente-se e conte-nos o que há. Jeremy com certeza foi para o escritório. Afinal de contas, são quase onze horas.
A Sra. Porter caiu numa cadeira que Francis empurrara atrás dela.
— Não, ele não foi para o escritório. — A voz de Agnes tinha uma nota histérica; seus olhos arregalados fitaram a Sra. Eccles e depois Francis. — Telefonei para lá, depois de ter ido para a suíte dele e verificado que ele saíra. Queria falar-lhe sobre aquela vagabunda... Não pude acreditar, quando Francis me telegrafou... Não pude acreditar! Meu filho com uma prostituta, todo mundo em Preston sabia que ela era uma prostituta, uma criatura má, feia como a necessidade, e imoral. Todo mundo sabia disso. Ela costumava encontrar-se com homens no mato e nos campos, à noite... Todo mundo sabia disso. Preciso falar com meu filho, meu pobre filho. Que é que ela fez a ele? Será que Jeremy...
— ...a deixou em estado interessante? — perguntou a Sra. Eccles. — É possível. Sei que eles se encontravam regularmente, no parque perto de minha casa. Oh, disseram que tinham acabado de se encontrar, pela primeira vez em quatro anos, mas eu sabia que era mentira. Ela o encontrava regularmente. Sei disso. Os homens! A verdade é que os homens sempre serão homens; as criadas sempre serão criadas querendo subir na vida, seja como for. Não censuro Jeremy. Censuro Ellen. Fui como mãe, para ela.
— Ela pode ter o seu fedelho na rua! — gritou a Sra. Porter, fora de si. — É lá o seu lugar, o lugar daquela suja, e é para lá que vou mandá-la! Farei com que vá também para uma colônia penal, pelos seus crimes.
Francis declarou, severamente:
— Foi seu filho quem seduziu a pobre Ellen.
Agnes Porter fechou o punho e atingiu Francis no braço. O golpe foi tão forte que ele cambaleou; depois começou a esfregar o braço por cima da manga do paletó preto.
— Oh, você! — exclamou Agnes, de dentes cerrados e à mostra, como uma leoa gorda e velha. — Não duvido que também tenha dormido com ela!
— Não sejamos vulgares — interveio a Sra. Eccles, que se divertia imensamente. — Conheço Francis. Ele não se rebaixaria a... (Pois bem, foi muito feio de sua parte, Agnes) a andar com uma criada. Ele.é mais exigente, embora tenha sido muito bondoso com Ellen.
— Bondoso! Oh, sei o que isso significa! Exigente? Não. Ele é tão mau quanto os homens com quem ela se encontrava em Preston. Mas não o meu filho, Jerry, não o meu filho! Ele está apenas procurando ser um homem honrado.
— Honrado! — exclamou Francis. — Ele não sabe o que essa palavra significa!
Furiosa, Agnes se adiantou, ainda sentada na cadeira, e teria atingido de novo Francis se a Sra. Eccles não tivesse dito, severamente:
— Agnes, controle-se. Você está se comportando como uma lavadeira. Fiquemos calmos. Vamos fal&r sobre isso razoavelmente. Precisamos achar uma solução. Francis e eu estivemos discutindo o caso. Que quer dizer com “Jeremy não estâva no escritório”? Você disse que telefonou?
— Telefonei! Do meu quarto. E os funcionários do escritório de Jeremy disseram que ele não apareceu lá hoje de manhã e que telefonara avisando que não iria. — Agnes estava ofegante, abrindo e fechando as mãos. — Onde estará ele? Fui até a sua suíte... falei com aquele seu empregado, aquele Cuthbert. E ele me disse que Jeremy saíra duas horas antes. Onde está o meu filho? Está realmente com aquela criatura horrível? — Fez uma pausa. — Aquele Cuthbert! É muito furtivo. Juro que estava rindo por dentro. Ele sabe de alguma coisa.
— Jeremy e Ellen fugiram juntos — disse a Sra. Eccles, satisfeita. — É isso. Ele a convenceu, ou ela o convenceu. Então não vão casar-se, afinal de contas, de modo que você pode acalmar-se, Agnes. Ele conseguirá dela o que quer e depois dará o fora, de modo que você pode ficar grata e aliviada.
Agnes acalmou-se um pouco, embora ainda chorasse.
— Você acredita nisso, Hortense? Acha que é o que aconteceu?
A Sra. Eccles inclinou energicamente a cabeça.
— Acho, sim.
— Eu, não — interveio Francis. — Ellen está com a tia, não está? A tia não a deixaria ir, numa cidade estranha, com um homem estranho.
— May Watson? — disse Agnes, incrédula. — Ela é tão ruim quanto Ellen, se não for pior. É mãe daquela menina, não tia. Todo mundo sabia disso. Filha natural, escória, aquela menina. Todo mundo sabia disso. — Fulminou Francis com o olhar e continuou, com voz abafada: — Sim, você é tão ruim quanto os outros homens com quem ela andou em Preston. E só tinha catorze anos! Você deveria morrer de vergonha, Francis Porter, por andar com prostitutas desse tipo. Mas seu pai é um homem rude, nada tem de cavalheiro. Quem sai aos seus não degenera. — A Sra. Eccles não era a única que usava chavões.
Francis encolheu os ombros, virou-se e foi para a janela, a olhar para fora. Estava enojado, abalado.
— Casar-se com ela! — exclamou a Sra. Porter, novamente furiosa, mas sorrindo com ar selvagem. — Então foi o que ela pensou, não foi? Pois bem, agora ela já sabe, graças a Deus. Mas como é que Jerry pôde até mesmo tocar nela? Meu filho!
— Pois bem, agora acabou — disse a Sra. Eccles, em tom conciliador. — Jeremy, o pobre queridinho, terá o que ele quer e aquela moça ficará mais triste e mais sábia. Não que eu a tome de novo como empregada, depois disso. Seria um escândalo.
Pensou no testamento de John Widdimer e ficou consternada. Jeremy falaria a Ellen sobre a herança e a moça nunca mais voltaria para a casa da antiga patroa. Era o mínimo que Jeremy poderia fazer pela pobre coitada, falar-lhe sobre o dinheiro. Seria o gesto de um cavalheiro, depois que “tivesse conseguido dela o que queria”. A Sra. Eccles pensou, com novo ressentimento: “Foi a melhor cozinheira e a melhor empregada que jamais tive. Eu a receberia de novo, sim. Seria um gesto cristão”. Agora estava zangada com Jeremy, que a privara disso.
A porta abriu-se com violência e May Watson, apesar de sua artrite, invadiu o aposento, gemendo. Seu corpo magro e encurvado tremia. Mal viu a Sra. Porter e Francis. Dirigiu-se, mancando, para a Sra. Eccles e exclamou:
— Ellen está aqui? Minha sobrinha está aqui com a senhora, Sra. Eccles?
Hortense sorriu largamente e lançou a Agnes um olhar significativo.
— Não, May, não está. Nem mesmo esteve aqui. Em que lugar poderia ela estar? — Ergueu as sobrancelhas com ar sabido, mas conseguiu dar impressão de estar preocupada.
Francis virou-se vivamente. Agnes respirava pesadamente pela boca, piscando, e ficou profundamente aliviada. Inclinou a cabeça silenciosamente. Estava tudo acabado, graças a Deus. Hortense tinha razão. Agnes sentia-se fraca, tal o seu alívio, e afundou-se na cadeira.
May estava chorando novamente. Disse, com voz entrecortada:
— Sua cama não foi usada. Ela despiu-se, a noite passada. Isso eu vi. Tomei meu comprimido... Ellen prometeu voltar comigo para Wheatfield, hoje. — May puxou os cabelos para trás, perturbada. — E então acordei, agora há pouco. A cama não foi usada. O lençol e os cobertores estão virados, como a camareira os deixou. Oh, Deus, onde está a minha Ellen? Onde está o Sr. Jeremy? Ele sabe para onde Ellen foi? Minha menina, sozinha na rua, com traficantes de escravas brancas por toda parte. Minha pobre menina. Oh, digam-me! Onde pode ela estar?
Francis disse, com voz dura:
— May, o Sr. Jeremy foi-se embora, também. Ninguém sabe onde ele está, ninguém no escritório e nem o empregado dele. Pelo menos é o que Cuthbert diz. Jeremy levou Ellen para algum lugar. Ele arruinou-a. Você deveria tê-la vigiado todos os momentos. E você também, tia Hortense. Deveria ter sido dama de companhia dela.
— Eu não podia dormir com aquela maldita menina! — exclamou a Sra. Eccles, encolerizada. — Quem está ligando para onde ele a levou? Ficamos livres de uma boa bisca. Quem está ligando para o que acontecerá a ela? — Virou-se para a Sra. Porter e acrescentou: — Agnes, você estava certa a respeito dela, o tempo todo. Mas não se preocupe com Jerry. Ele voltará... sozinho, conforme lhe disse.
— Ele levou Ellen? — gemeu May Watson. — A minha Ellen? Fugiram? Mas ele queria casar-se com ela!
A Sra. Eccles riu com certa crueldade.
— Sim, sei o que ele disse. Sei o que ela pensou. Fomos todos tolos, acreditando nisso. Fomos infantis! E o tempo todo o rapaz levadinho estava planejando isso. — Sacudiu a cabeça, parecendo estar se divertindo. — Rapazinho travesso. Pois bem, Ellen teve o que merecia. Francis, não me olhe desse jeito. Jeremy e Ellen!
Ouviu-se uma voz de homem, à porta.
— Estão falando de mim? De nós?
Todos olharam para a porta. Jeremy e Ellen estavam ali. Jeremy tinha um sorriso cruel e Ellen estava a seu lado, bonita e imponente com um vestido novo de lã cinza e uma capinha de zibelina, um chapéu de veludo e de plumas, luvas de pelica cinza, regalo de zibelina, delicados sapatos franceses e meias de seda.
— Seu canalha — disse Francis. E, então, ele soube, com absoluta certeza, com angústia e paixão, que amava Ellen Watson e sempre a amara, desde o momento em que a vira ajoelhada, examinando extasiada uma margaridinha, numa rua de Preston. Desejou matar Jeremy, como desejara matá-lo antes, só que agora com uma intensidade e uma cólera que jamais conhecera em sua vida controlada.
— Jeremy! — exclamou a Sra. Porter, frenética. Procurou levantar-se, mas seu peso e um vago terror a prenderam na cadeira.
May aproximou-se da sobrinha, mancando, estendendo as mãos trêmulas, tendo no rosto uma expressão de causar dó. Ellen tomou nas suas uma daquelas mãos patéticas e sorriu como um anjo. Dela emanava um odor doce de felicidade e de perfume caro. O brilhante que Jeremy lhe dera cintilava em seu dedo, ao lado de uma aliança simples e nova. Mas May não a viu.
— Ellen, Ellen, que foi que ele fez com você? — gemeu a pobre mulher.
Ainda sorrindo, Jeremy segurava o braço de Ellen. Nem mesmo olhara para o seu primo Francis. Relanceou o olhar para a Sra. Eccles e depois para sua mãe. Não parecia admirado por ver a Sra. Porter, nem Francis.
— Senhoras — disse ele, inclinando-se e pela primeira vez encarando Francis. — E, cavalheiro, suponho?... Minha esposa. Casamo-nos há uma hora, na prefeitura, e o próprio prefeito de Nova York foi uma das testemunhas.
Nos momentos seguintes, apenas a Sra. Porter emitiu um som. Depois ela soltou um grito alto e estridente, desmaiando na cadeira.
A Sra. Eccles manteve-se calma. Não podia deixar de ficar calma, porque era travessa. Sorriu alegremente e bateu palmas. Aqueles rostos! Nunca se esqueceria deles.
— Alguém precisa ir buscar sais para a pobre Agnes. — disse ela. Depois riu.
Francis virou-se. Estava perturbado, agoniado. Sentindo-se desamparada, May encostou-se na sobrinha. Ellen segurou-a, inclinou o rosto e beijou a face molhada da tia.
— Estou muito feliz — disse. — Muito feliz. — Ao dizer isso, seu rosto tinha uma expressão radiosa e ela fechou os olhos por um momento.
Capítulo 12
Walter Porter entrou no escritório de Jeremy. Suas roupas estavam manchadas de neve e seu rosto vermelho, devido ao vento. Ele sacudiu o chapéu, dependurou o sobretudo e a bengala e aproximou-se depois da lareira para aquecer as mãos. Jeremy tirou do armário uísque, conhaque e dois copos. Eram quatro horas de uma tempestuosa tarde de fevereiro e o céu estava quase negro.
Walter sentou-se diante da lareira, olhou para o escritório grande, de lambris, e, como sempre, inclinou a cabeça com ar de aprovação.
— Então? — disse, finalmente. — E como foi seu almoço com os rapazes da Sociedade Scardo?
— Foi mais ou menos como você me havia dito — respondeu Jeremy, sorvendo seu conhaque. — Ainda não sei por que me desejam como sócio. Não sou assim tão rico, nem tão importante.
— Ah, mas eles acham que será — replicou Walter. — E desconfiam que você tem ambições políticas. Queriam dar uma espiada em você, conforme me disseram, quando me procuraram há seis meses. Há muitos anos, queriam que eu me tornasse sócio. Não. Eles não podiam compreender, não, senhor! Ali estava eu, um dos mais ricos industriais da Pensilvânia, e não me interessava por banqueiros, nem por políticos. Muito preguiçoso, disse eu. Para que precisaria de mais dinheiro? foi o que lhes perguntei. Acharam que eu era louco e me informaram amavelmente de que, nos “tempos antigos”, as terras e os territórios eram as raízes do poder. Hoje é o dinheiro. Concordei. Depois os confundi mais ainda quando lhes disse que não estava interessado em poder, tampouco. — Walter deu uma risadinha. — Desconfio que eles me tenham considerado um castrado, ou coisa semelhante. Para eles o dinheiro significa poder, mulheres e controle de governos. Já tive tudo isso; não desejo mais nada. — Olhou para Jeremy com ar indagador. — Você vai se tornar sócio?
— Vou. Mas não pelas razões que você pensa. Você nunca me contou uma coisa. Por que é que não convidaram seu filho, Francis? É do tipo deles, da elite auto-eleita.
Walter olhou para o seu copo.
— Pensei que você compreendesse. Não confiam nele. Isto é, confiam até o ponto de achar que é sincero. Mas eles não são sinceros a respeito das coisas em que Francis acredita. Examinaram-no. São cínicos. Enquanto inclinavam a cabeça com ar solene a respeito dos pronunciamentos de Francis, aprovando-o calorosamente, a sinceridade do rapaz os fazia rir intimamente. Eles dizem todas as coisas que Francis diz, em notas sonoras que são citadas na imprensa, mas falam apenas para o público. O que dizem em particular é completamente diferente. Francis deseja ser um dos eleitos que governarão o mundo, mas infelizmente acredita no que diz. Eles lamentam isso, já que Francis é meu filho e um de meus herdeiros.
— Creio que os enganei a respeito de minhas opiniões — disse Jeremy. — Cantei as canções “compassivas” que eles entoam e não ouviram nem uma nota falsa. Sou um verdadeiro ator. Deveria estar na Broadway. — Jeremy fez um trejeito com a boca. — Vou ficar sócio para poder ver o que estão fazendo e conspirando. Preciso ficar atento. Do contrário, provavelmente me degolarão.
Walter inclinou a cabeça, sem sorrir.
— Eles são peritos em coups d’État, no mundo inteiro. Muito bem. Se eles o aprovarem, você será apresentado ao Comitê para Estudos Estrangeiros, que, conforme lhe disse, está prestes a instigar uma guerra mundial num futuro próximo. Talvez em 1910, 15 ou 20. E serão bem sucedidos, também, os seus colegas em Londres, Paris, Berlim, Roma, São Peters-burgo, Washington, Tóquio... em toda parte.
Jeremy observou o tio com curiosidade.
— E você não se importa, não é, tio Walter?
Walter deu um soco no braço da poltrona de couro vermelho.
— Não, filho, não. Mandamos avisos e advertências para todo o mundo. Tivemos conferências com reis, príncipes, com o próprio cáiser, com o czar, com o Príncipe Edward e Deus sabe com quem mais, inclusive nosso rapaz de Washington, Teddy. Que aconteceu de bom? Nada. Somos um mundo em paz e todas as nações estão ficando cada vez mais prósperas, não estão? E todos os membros de academias não falam, hoje em dia, de amor infinito entre as nações e da “maré crescente de preocupação pelos pobres e pelos oprimidos”?
“Tentamos falar-lhes da conspiração de homens internacionais que querem governar todo o maldito mundo, controlar as indústrias, a economia, os governos... os povos, no seu próprio interesse e para conseguir poder e reduzir todas as nações à condição de escravas, sob o domínio deles. Poder. Poder. Oferecemos provas. Avisamos o nosso governo em Washington da conspiração para que os senadores sejam eleitos diretamente pelo eleitorado, para que esses senadores possam ser controlados e sejam tão impotentes quanto o Congresso vai ser. Demos-lhe provas de que a conspiração pretende conseguir o imposto de renda federal... apesar de a Corte Suprema dos Estados Unidos ter declarado, pelo menos meia dúzia de vezes, que este imposto é inconstitucional. Citamos Lorde Acton para esses membros do governo: ‘O poder de taxar é o poder de destruir’. Citamos Thomas Jefferson, até ficar roucos: quando o imposto nacional pesa no povo, este país está condenado.
“Sim. Que é que nossos esforços e nosso dinheiro conseguiram? Nada. Se o povo americano permitir a eleição direta dos senadores e a imposição de uma taxa federal permanente, então, meu filho, que vão para o inferno! Para o inferno... o mundo inteiro.”
Walter ergueu o copo, acrescentando:
— “Ave, Caesar, morituri te salutamus”.
— Você não acha que temos chance de deter esses supostos césares?
— Não, filho, não.
— Se é tudo tão inútil, por que motivo você quis que eu fizesse parte da Sociedade Scardo?
Walter levantou-se bruscamente e começou a andar pelo tapete Aubusson, de um lado a outro da sala, pensativo, de cabeça baixa.
— Não sou mais jovem. Espero que os moços como você lutem por um adiamento. Quero passar o resto de minha vida numa paz relativa. E semore há a possibilidade absurda de podermos levantar o povo a tempo, embora eu ache isso duvidoso. — Walter sacudiu a cabeça. — Por falar nisso, os rapazes falaram sobre planos de bancos particulares, um Sistema de Reserva Federal?
— Sim, falaram. Tirar ao Congresso o poder de emitir dinheiro, como manda a Constituição. “Que é que os congressistas são?”, perguntaram-me eles, em tom paternal. “Muitos são fazendeiros ignorantes do meio-oeste, políticos medíocres que antes eram donos de mercearias ou de açougues, antigos prefeitos e advogados insignificantes. Quem são eles, para serem os únicos a ter o poder de imprimir o nosso dinheiro, quando somos uma nação que cresce rapidamente?”, foi o que me perguntaram. “Precisamos de banqueiros, de homens sagazes, que entendam de finanças internacionais e nacionais, para guiar nosso futuro econômico.”
— Sim, eles têm razão — disse Walter, em tom sombrio. — Vão fazer isso, filho. O povo acredita em slogans com a convicção de que seus “superiores” conhecem as necessidades e as aspirações deste povo mais do que o próprio povo. Pois bem, Roma morreu assim e também a Grécia e o Egito, para não falar em Nínive e em Tiro.
— Os césares nunca morrem, não é?
— Não, filho. A antiga ambição de poder nasceu com a raça humana. Está no nosso sangue. Conforme disse Salomão, não há nada de novo sob o sol. A natureza humana nunca muda; nunca mudará. É essa a nossa desgraça.
O céu de inverno estava agora quase negro e o vento assobiava nas janelas. O fogo na lareira subiu de repente, como que consternado e excitado. Walter e Jeremy sorviam seus drinques em silêncio, refletindo. Depois, Walter disse:
— Receio que os americanos tenham perdido sua virilidade e sua coragem. Oh, aqui e acolá ainda há sinais delas, mas estamos ficando efeminados. Os pequenos confortos e as vantagens da vida estão começando a ser de suma importância para nós, assim como os pequenos divertimentos. Ouvi dizer que começam a falar de “amor” nas escolas deste país, em vez de falar de dever e de responsabilidade. Isso é fatal. Nunca houve muito amor neste mundo, mas a covardia está aumentando. Em certa época de nossa história, o mais humilde dos fazendeiros e o menor dos lojistas liam avidamente os Federalists Paper s e os compreendiam. Agora os estudantes mal conseguem interpretá-los. Estaremos ficando estúpidos, Jeremy? Os homens se esqueceram de ser valentes, severos, senhores de seu governo, de suas famílias, de suas vidas, de se mostrar dispostos a morrer pela pátria, por seu Deus acima de tudo. Agora os homens desejam segurança e felicidade.
— Talvez devêssemos apoiar a força do trabalhador, que ainda controla seu governo, sua mulher e seus filhos e deter o crescimento daquilo que chamo de “lumpeninteliguêntsia” — disse Jeremy. — Que esterilidade, a dos chamados “intelectuais”! Quem lhes dá ouvidos?
— A ralé — declarou Walter. — A ralé que destruiu Roma.
— Isso mesmo — concordou Jeremy. — Sim, ela nos destruirá, também. Não foi Lincoln quem profetizou isso? Foi.
— Mas os governos os usarão, Jerry, os homens do tipo que você encontrou hoje.
— É uma velha história, tio Walter. As nações nunca aprendem.
— Quando você era assistente de promotor, conseguiu processar esses atiradores de bombas, embora Frank se mostrasse contra você com lágrimas e soluços pelos “pobres trabalhadores”, como se ele conhecesse alguma coisa sobre os trabalhadores.
— Ele confunde os trabalhadores com a ralé das ruas. Mas os rapazes da Sociedade Scardo, não! Cumprimentaram-me por aquelas acusações. Que canalhas! Eles não têm nenhuma raça especial, nenhuma nação, nenhum compromisso. Disseram-me que pensam exatamente como eu a respeito do “povo”. Eu poderia ter argumentado, dizendo que a semântica deles não é a minha, mas contive-me. Queria saber mais a respeito deles. Você tem razão. Eles desprezam homens como Frank. Mas usam-nos, usam a lumpeninteliguêntsia.
— Em todo o caso, quem eram aqueles atiradores de bombas? — Walter perguntou.
— Quem sabe lá? Mas alguém os contratou. Você pode ter certeza de que não eram os verdadeiros trabalhadores da América. Um deles foi condenado à morte por assassínio; os dois outros foram condenados a prisão perpétua. Frank vai apelar?
— Suponho que sim — disse Walter, em tom cansado.
— Frank não vai vencer. O juiz é durão, um homem respeitado. — Jeremy consultou seu relógio. — Está na hora de ir para casa, tio Walter. — Tenho que me vestir, e você também, para o jantar.
Walter, que estava diante da lareira, voltou-se lentamente e perguntou:
— Como vai a querida Ellen?
— Pois bem, está grávida...
— Devo dar-lhe os parabéns, ou os pêsames, filho?
Jeremy deu uma risada e respondeu:
— Pérgunte-me daqui a vinte anos. Este mundo é terrível, para se pôr mais gente nele. — Jeremy ficou sério. —
Estou preocupado com Ellen. Sua ingenuidade, a confiança que tem nos outros às vezes me deixam alarmado, embora sejam estas as qualidades que mais admiro. Fiz testamento, para que ela fique protegida dos abutres. Como você sabe, ela é realmente inteligente, mas sua inteligência às vezes fica embotada por aquilo que ela chama de “amor e confiança”. Ela não sofre dessa nova moléstia que alguns chamam de “compaixão”. Conhece o mundo, tem piedade e força e uma alma de aço. Esperemos que o “amor” não a atraiçoe e não a destrua, como fez com tantas outras pessoas.
— Seus amigos gostam dela?
— Os homens, sim. As mulheres, não. Elas não compreendem a simplicidade e a sinceridade. Poucas mulheres compreendem-nas. Acham que Ellen é tola, ou hipócrita. Ou, então, quando Ellen percebe alguma falsidade, sua franqueza as ofende. As mulheres, na maioria, são muito complicadas, não são?
— São, realmente — concordou Walter. — Agora estão lutando pelo direito de voto. Se o conseguirem, farei com elas o que faço com os eleitores masculinos atuais. Exigirei que demonstrem um pouco de inteligência e de objetividade, quando se tratar de política.
Jeremy pediu sua carruagem. Ele e o tio vestiram os sobretudos forrados de pele e calçaram as luvas grossas, deixando o calor do escritório pelo frio da rua. O vento e a neve os assaltaram e Walter disse para o sobrinho:
— Garanto que você agora está convencido de que nenhum presidente dos Estados Unidos poderá daqui por diante ser eleito sem o consentimento da Sociedade Scardo e do Comitê para Estudos Estrangeiros. Se o presidente se opuser a eles, será assassinado ou alvo de impeachment, ou destituído.
— Fico imaginando se o Presidente Teddy sabe quem foi que o colocou no cargo.
— Talvez sim, talvez não. Só sei que está começando a falar como eles, principalmente quando se trata de execrar o Cáiser Guilherme da Alemanha, que em certa época ele admirava e visitou. Ouvi dizer que o cáiser sabe, mas quem pode garantir isso?
O professor de música de Ellen lhe disse:
— Madame, a senhora tem grande talento para piano, mas precisa exercitar-se.
Tendo na voz uma nota de desculpa, que lhe era habitual, Ellen respondeu:
— Sei que sou estúpida, mas estou tentando. Ouço muitos sons do piano... quando não estou tocando. Que sons! — Suspirou e fitou o professor com olhos tão luminosos que ele ficou emocionado.
— Madame Porter, isto é ter alma de artista: ouvir, ver, sentir, provar e tocar aquilo que não é evidente para as mentes e as almas mais vulgares. O mal é que um artista não pode falar com outras pessoas sobre essas coisas, exceto com as iguais a ele, e são poucas. O que ouvimos e vemos em silêncio é muito maior do que aquilo que os outros veem e ouvem. Às vezes isso é demais para o espírito suportar, pois estamos isolados num deserto de mediocridade. Ficamos gratos só pelo fato de eles não nos ridicularizarem, não é verdade?
Mas a modéstia de Ellen se pôs entre a sua compreensão e o que seu professor, Herr Solzer, dissera. Ficou deprimida.
— Desejo apenas que as pessoas gostem de mim e me aceitem — murmurou ela..
O professor abriu as mãos, desanimado.
— A única compreensão e a única aceitação são com o Gross Gott, madame! Deixe que Ele seja o seu conforto. Ele é o único Refúgio.
— Meu refúgio é o meu marido — replicou Ellen; sorrindo com ternura e alegria.
— Ele é apenas mortal, madame.
— E eu também — disse Ellen, uma covinha aparecendo em sua face. — Não aspiro a nada, Herr Solzer, a não ser agradar a ele.
O professor fitou-a atentamente e depois desviou o olhar. Que esperdício dar talento ou gênio às mulheres! Elas os afogavam na dedicação a um homem. Mas São Paulo e Bismarck não recomendavam essas coisas para as mulheres? Herr Solzer não concordava com São Paulo, nem com Bismarck. Achava que as mulheres bonitas não deveriam casar-se, embora devessem ter amantes. Aquela senhora... tão bonita, tão dotada! Deveria morar num palácio dourado e não numa casa de pedra de Nova York. Deveria ser adulada por multidões, tanto por sua beleza como por suas aptidões. Em vez disso, era apenas uma esposa. Herr Solzer podia ser alemão, com uma rigidez prussiana, mas adorava a arte, o que era também uma qualidade germânica.
Desconfiava que Ellen estivesse grávida. Que esperdício, também! Os gênios nunca legavam seu brilho aos seus rebentos. Era um grande mistério. Atributos físicos e traços característicos, sim. Mas gênio, talento, nunca. Ele conhecera muitos gênios das ciências, das artes e da filosofia, mas os filhos dessas pessoas eram pouco dotados, tendo inveja e ressentimento dos pais e sendo, às vezes, alarmantemente perigosos devido a essa inveja. Muitos gênios tinham sido explorados e difamados por seus filhos e até mesmo assassinados. A humanidade deveria ser mais temida do que um tigre e até mesmo do que os governos.
Para ocultar sua agitação, ele disse, severamente:
— Madame, agora vai exercitar o Nocturne de Debussy e o tocará, não de ouvido, e sim pela música. Amanhã, espero muito mais do que hoje.
— Vou tentar — disse ela, deixando-o ainda mais desesperado. — Eu nunca tinha nem mesmo tocado num piano, Herr Solzer, até quatro meses atrás, e o senhor precisa ter paciência comigo.
Ele beijou-lhe a mão e partiu, sacudindo a cabeça.
Ellen olhou para o piano na sala grande e escura, onde se viam tons de marrom e de ouro, lambris cor de marfim, janelas grandes e abauladas, sufocadas por cortinas de renda e de veludo azul-claro, espelhos, tapetes Aubusson. Estava cansada. Estivera horas com o professor, naquela manhã, e ele era rigoroso e passara muita lição para aquela noite. Se ele a considerava dotada em francês e alemão e viva em outras matérias, nunca a elogiava.
— Sra. Porter, há uma grande discrepância na sua educação — dissera ele certa vez, gravemente.
— Concordo — replicara ela, com tristeza. — Sei muito pouco. Mas estou tentando, realmente. Preciso ser uma esposa adequada a meu marido.
Às vezes ela perdia a esperança. Era tão estúpida, por mais que se esforçasse! Jeremy elogiava-a e apreciava-a, mas Ellen acreditava que era pelo fato de gostar dela. Vivia numa tensão constante, na esperança de ser agradável ao marido. Quando Jeremy a acariciava e a achava deliciosa, temia que ele estivesse apenas sendo paciente, caridoso. Jeremy até mesmo tolerava o seu “estado”, apesar dos enjôos matutinos, e Ellen não podia ser suficientemente grata por essa solicitude. Quando o marido lhe dizia que estava radiante com a criança que ia nascer, Ellen tinha vontade de chorar. Ele era tão bom!
Dirigiu-se distraidamente para uma das janelas e ficou olhando a rua, onde havia neve e cinza e soprava um vento de inverno. Havia ali poucas carruagens e ainda menos pedestres andando apressadamente pelas calçadas. Entardecera e a luz a gás surgiu nos postes que iam adquirindo um tom dourado. Então, sentiu-se mais animada. Amava Nova York, embora jamais tivesse conhecido uma cidade grande. Havia nela algo de infinitamente excitante, alguma coisa sempre em movimento, elétrica. O relógio de ébano do andar de cima deu cinco badaladas e ela correu para a cozinha do andar térreo, grande, quente e brilhante, com paredes de tijolinhos vermelhos e piso de tijolos. Havia ali vapor e odores deliciosos. Cuthbert estava debruçado sobre o fogão de ferro e de tijolos, com uma criada trêfega a seu lado, ajudando-o. A moça preparava as verduras sob a severa supervisão, de Cuthbert.
Ele olhou para Ellen e no rosto velho e grave surgiu uma expressão de prazer e de afeto.
— Sra. Porter, já está na hora de pôr o rosbife no forno?
— Sim, é claro — respondeu ela naquele tom de desculpa que sempre o comovia por sua tristeza. — E as cebolas assadas, em fatias, por baixo, uma camada grossa, bastante manteiga, tomilho e um pouco de alho esfregado nos lados.
— Ninguém sabe fazer um rosbife como a senhora. Acho que o forno já está suficientemente quente e vou diminuir um pouco o gás.
— Está certo — disse Ellen, examinando a carne com seriedade e tocando-a de leve com o dedo. — Está muito macia, não está? Acha que é bastante para oito pessoas e para os empregados? Penso que em três horas...
Cuthbert adquiriu uma expressão séria.
— Um pouco menos de seis quilos. Duas horas e meia, Sra. Porter. Deve bastar. E nada de sal ou pimenta até estar meio assada?
— Sim — concordou Ellen. Olhou à volta e suspirou, feliz. — O Sr. Walter Porter vem jantar, como você sabe, Cuthbert. Por que é que os homens gostam tanto de rosbife? Prefiro carneiro, ou galinha. As ostras estão boas? E... — De novo ela adquiriu uma expressão de desculpa. — ... Quer fazer o favor de colocar um pouco de alho esmagado no molho de tomate... só um pouquinho?
— Está bem, Sra. Porter. E as ostras? Como é que a senhora as prefere?
— Só com limão, sobre gelo, Cuthbert. Mas você terá que escolher os vinhos. Sei muito pouco a esse respeito. As lagostas estão bem frescas? Muito bem. E os melões da Flórida? Imagine, frutas em Nova York, no inverno! Qual vai ser a sobremesa?
— Musse de chocolate, bolo de anjo, um parfait gelado de castanhas e vários docinhos de massa. Um pouco austero, talvez, mas a senhora prefere jantares simples, não é, Sra. Porter? Sim. Preparei o molho, verde e azedo, para as lagostas, conforme a sua sugestão. Elas são pequenas, um pouco menos de um quilo e meio cada uma, mas depois dos aperitivos de ostras, do molho com creme azedo e do xerez, assim como da salada, as lagostas serão suficientes antes do resto do jantar, isto é, a carne, as batatas, a couve-de-bruxelas, os aspargos, as alca-chofras e os pãezinhos quentes. Talvez devêssemos servir uns camarões frios, também? Estão na geladeira.
Ellen refletiu. Sempre tinha medo de que seus jantares fossem muito simples.
— Talvez os camarões com as lagostas? Sim, acho que sim. Os homens sempre têm fome.
— E as senhoras também — observou Cuthbert com um sorriso. — Todas querem parecer-se com Miss Lillian Russel, que é um tanto gorduchinha. — Olhou com ar aprovador para o corpo esguio de Ellen. Ela usava um vestido de passeio de veludo cor de damasco que combinava com seu rosto e com seus lábios. Esvoaçava à sua volta, brilhando, tendo babados delicados de renda na gola e nos punhos.
Ellen ficou novamente deprimida quando pensou em suas convidadas. Os homens eram muito amáveis com ela, mas as senhoras eram desconfiadas e tinham olhos críticos que não a enganavam. Ellen sabia que achavam que tinha uma aparência vulgar, até mesmo vistosa demais. Por mais pó-de-arroz que ela passasse no rosto, o corado sempre aparecia, como numa camponesa. Seu cabelo era deplorável, sempre fugindo do pompadour, em cachos e fios esvoaçantes, apesar dos esforços da camareira. Jeremy frequentemente puxava esses fios, em tom brincalhão, até mesmo à mesa. Para Ellen, era evidente que ele os considerava infantis e não-sofisticados.
Vendo sua expressão desanimada, Cuthbert disse:
— O Sr. Diamond Jim Brady apreciaria este jantar, Sra. Porter.
Ellen ficou de repente enjoada e sentiu bílis na garganta. Agarrou o braço de Cuthbert, enquanto a empregada a fitava com curiosidade.
— Acho que estou um pouco tonta — disse Ellen.
Cuthbert fê-la sentar-se numa cadeira e olhou-a com sincera preocupação. Fez um sinal à empregada.
— Um pouquinho de conhaque, Mabel — disse ele. Vi-rou-se depois para Ellen. Sabia que ela estava grávida. — Para assentar o estômago, Sra. Porter. Talvez a senhora esteja estudando e trabalhando demais.
— Mas não consigo nada — replicou Ellen, em tom desanimado. — Sou uma decepção para o Sr. Porter.
Cuthbert ergueu as sobrancelhas.
— A senhora é uma alegria para ele. Conheço-o há muito tempo e percebo o que ele pensa.
Ellen aceitou o conhaque, que detestava, e tomou uns golinhos com mão trêmula. Mas a bebida aqueceu-a e o enjôo começou a passar. Ela pensou, consternada, no filho que viria. Seria pouco atraente como ela e igualmente estúpido? Ellen não podia suportar a ideia da decepção de Jeremy. Tinha esperança de ter um filho que se parecesse com o pai.
— Você é muito bom, Cuthbert — disse. Levantou-se, sentindo um pouco de fraqueza. — Agora preciso ir ver minha tia. Ela jantou?
— Sim, Sra. Porter. Apenas uma chávena de caldo, peixe cozido e batatas assadas, salada, pirão de nabos, presunto frio, chá, e um bolo simples com sementes de cominho, como sua tia gosta. Um jantar frugal, mas parece que ela o apreciou.
— Obrigada, Cuthbert. Você é muito bom. — Ellen dirigiu-se para a porta da cozinha, com expressão ansiosa, pensando na tia. O médico vinha ver May todas as semanas, e era um conforto para Ellen. “Precisamos nos lembrar do sofrimento dela”, dissera o médico. “Mas este novo remédio, aspirina, ajuda muito. Não devemos dar atenção demais às queixas de mulheres da idade dela; é muito melancólico. Só o que podemos fazer é consolar, suportar...” Mas o conforto que ele dava a Ellen desaparecia invariavelmente quando ela entrava no pequeno elevador que a levaria ao quarto andar, onde May tinha uma suíte quente e agradável, com uma enfermeira dia e noite, uma lareira sempre acesa e uma bela vista. Havia mesmo um fonógrafo com discos de baladas sentimentais e tristes, as músicas favoritas de May.
Quando o elevador chegou ao quarto andar, Ellen estava se sentindo de novo culpada e desanimada. Causara tanta infelicidade a May, tanto aborrecimento, casando-se com Jeremy! Nada agradava à tia; nada atenuava sua infelicidade. May se sentia privada de sua condição normal, que era sofrer e trabalhar e aceitar o destino com submissão. Sob a antiga condição ela sentira uma espécie de exaltação, embora às vezes tivesse sentido uma revolta encolerizada. Em sua classe, fora importante na miséria. Agora não era nada importante e não tinha um status verdadeiro. Era apenas a dependente de um homem que ela ainda temia e de quem desconfiava e não gostava. Acreditava que Jeremy a considerava um estorvo. Seu único prazer eram as recordações da casa da Sra. Eccles. Oh, se ao menos Ellen tivesse sido sensata! Mas Ellen era tão avoada quanto Mary; May jamais duvidara de que a sobrinha tivesse à sua espera um futuro desastroso, que poderia surgir a qualquer momento, trazendo desgraça a ambas. Não era “natural” Ellen fingir que era uma grande dama naquela casa. Meio aterrorizada e meio esperançosa, May esperava o dia da derrota, quando poderia comentar com lágrimas nos olhos: “Eu lhe disse, Ellen, eu lhe disse!” A visível felicidade da sobrinha não a iludia, nem desfazia seu terror. Para dizer a verdade, May ressentia-se com aquela felicidade. Sentia-se roubada, frustrada. Todas as manhãs, pensava, agourenta: “Talvez hoje seja o dia”. Quando o “dia” acabava serenamente, ela ficava triste. Às vezes ouvia o riso distante de Jeremy e achava que ele estava zombando de Ellen. Percebia o murmúrio de vozes alegres de homens e estava convencida de que estavam caçoando de sua sobrinha. Ellen, naquela sala de jantar grande, onde havia cristais reluzentes, tapetes sedosos e pratarias, um lustre enorme, veludos e rendas...
May se contraía, medrosa, pensando em Ellen. Muitas vezes gemia, penalizada. Quando a moça não compreendia suas observações, May ficava zangada com essa estupidez. Afinal de contas, Ellen tinha dezoito anos, era uma mulher e não deveria ser tão obtusa! Mas Mary também fora uma tola e sonhara em ser uma grande dama.
Quando Ellen, usando uma bela criação de Worth, aparecia para ter a aprovação da tia, May dizia:
— Isso não é para você, querida, não é para você. Não somos gente fina, Ellen. E esse colar de brilhantes! Em você parece uma imitação; parece, realmente. É preciso ter sangue nobre para que essas coisas se realcem, e você não o tem. — Quando percebia que Ellen ficava melancólica com essas críticas, não sentia remorso e sim tristeza. Temia o dia em que Ellen “compreendesse e criasse juízo”, embora ao mesmo tempo esperasse por esse dia. Nunca desistia da ideia de voltar, submissa, para a casa da Sra. Eccles.
De vez em quando, perguntava:
— Você e o Sr. Jeremy andaram brigando? Julguei tê-lo ouvido falar, irritado, com você, quando iam para a cama, a noite passada.
Certa vez, Ellen replicara:
— Oh, Jeremy estava falando de uma de nossas convidadas, uma mulher detestável. Ele ouviu-a dizer a uma outra senhora que pareço uma corista.
Ellen rira, mas May comentara, em tom significativo:
— Está vendo?
Ellen continuara:
— Mas o marido dela foi muito amável e atencioso, e os outros senhores me convenceram a tocar alguma coisa de Cho-pin. Jeremy ficou muito orgulhoso. Só errei uma vez.
— Ouvi você berrar, a noite passada, enquanto tocava piano.
— Sei que minha voz não é muito boa, mas meu professor diz que é; ele é muito gentil. Mas os senhores aplaudiram. Sinto tê-la perturbado, titia. Você devia ter dito à enfermeira que conservasse a porta fechada.
May não sabia que estava tentando destruir Ellen. Acreditava realmente que a estivesse salvando, “endurecendo-a” para a catástrofe inevitável. Deplorava também o fato de Ellen “procurar aparecer”. Não era “apropriado” para uma moça como ela, que não passava de uma criada, por mais que usasse modelos de Worth, joias, perfumes, sabonetes perfumados e sandálias enfeitadas, para não falar dos pentes com pedras, dos brincos e dos braceletes. Era ainda menos “apropriado” Ellen ter empregados, Cuthbert, a governante e duas empregadas, além de uma carruagem com dois magníficos cavalos negros. Quando Ellen aparecera vestindo um mantô de zibelina, May estremecera, dizendo:
— Isso nos sustentaria durante anos, Ellen, anos. É melhor você ter cuidado com ele, a gente nunca sabe.
— Oh, não creio que Jeremy jamais vá à falência — replicara Ellen, sorrindo.
Ela jamais suspeitara dos motivos patéticos da tia, embora Jeremy desconfiasse disso, com uma cólera que não demonstrava à esposa. Ellen muitas vezes repetia para ele essas conversas, com bom humor, explicando:
— A querida tia May não consegue acostumar-se com todas essas coisas finas. Precisamos ter paciência com ela, querido.
Jeremy geralmente compreendia, pois era perspicaz e conhecia a natureza humana, e nunca, nem mesmo para si próprio, acusava May de uma malícia que ela realmente não tinha. Sabia que era apenas o medo por Ellen que a impelia a isso. Muitas vezes, embora disfarçadamente, procurava tranquilizar a pobre mulher. Isso fazia com que May desconfiasse ainda mais dele. “Está procurando me enganar”, dizia de si para si. “Mas não sou trouxa, como ele pensa.” Quando Jeremy falava, ela fita-va-o com soturna desconfiança.
Quando Ellen entrou na saleta de May, nesta noite, viu a tia encolhida perto do fogo, usando um roupão caro de lã azul-marinho. May nunca estudara a Bíblia antes, mas agora a velha Bíblia de Ellen estava aberta em seus joelhos emaciados. May procurava uma passagem de exortação para ler para a sobrinha, principalmente sobre “as filhas de Jerusalém”, donzelas felizes (embora condenadas pelos profetas severos) que se vestiam de seda e usavam pulseiras e brincos, cosméticos, e “caminhavam orgulhosamente” com sininhos nos tornozelos. Ao ouvir essas passagens, Ellen ficava perplexa, imaginando por que motivo os profetas eram tão severos ao condenar a alegria e a beleza. “Será que uma pessoa precisa viver em penitência e luto e ter uma expressão sombria para merecer a aprovação de Deus?” Ellen começava a duvidar disso, pois não era Deus o criador de tudo o que era belo e não pedira a Moisés todos os embelezamentos para o Seu templo, inclusive música? Pois Davi não dissera: “Fazei um ruído alegre para o Senhor”? Cristo não falara do esplendor dos lírios do campo? Embora nada dissesse à tia, Ellen começara a duvidar da monotonia e da falta de graça e de encanto do puritanismo. Essa dúvida era imediatamente seguida por uma sensação de culpa e uma convicção de maldade. A fealdade e a escuridão, ao que lhe parecia, eram sinais de santidade.
Certa vez Ellen mencionara timidamente a Jeremy sua sensação de culpa. Ele beijara-a e dissera que ela deveria “levar em consideração” a beleza do pavão, a elegância do cisne, o explodir da vegetação na primavera e o cantarolar alegre dos rios e dos riachos.
— Todas as coisas riem e se comprazem em sua beleza — dissera ele. — E você devia fazer o mesmo, minha doce e conscienciosa tolinha. — Jeremy falara-lhe das catedrais da Europa, dos templos de Deus, do brilho das pedras preciosas, da beleza das montanhas e do colorido dos mares e dos céus.
— Sua tia acha que isto é obra do Diabo?
Às vezes Ellen pensava que era possível. Mas, ainda assim, quando May a censurava por “ostentação” e “luxo no vestir-se”, ficava de novo abatida.
Ficou pensando que citação da Bíblia May teria escolhido para ela naquela noite.
Quando Ellen entrou na saleta, May ergueu os olhos e disse, azedamente:
— Ellen, esse tom de damasco não fica bem numa mulher casada que já tem dezoito anos. Você deveria usar roupas mais “sóbrias”. — May parecia descontente e agourenta. — E você anda abatida, ultimamente. Há alguma coisa errada? — perguntou, quase esperançosa.
Ellen não mencionara à tia a sua gravidez. Não sabia bem qual o motivo dessa reserva. Seria indelicado contar-lhe? Tinha a intuição de que May a desaprovaria, assim como ela mesma a desaprovava, pois nunca se esquecia da natureza má e vingativa das crianças, de sua malícia e de sua crueldade instintivas. Quando morara em Preston, não culpava os pais daquelas crianças, pois até mesmo os mais humildes tinham gritado com os filhos quando estes perseguiam-na quando voltava para casa da escola, da igreja ou do emprego. Além do mais, a Bíblia não dizia que o homem era mau por natureza? Lembrando-se dessas coisas, Ellen sentiu inquietação a respeito do filho que carregava no ventre. Iria ele ser inimigo de Jeremy? Tentaria destruí-lo, enxotá-lo e explorá-lo, como muitas crianças faziam com os pais? Causar-lhe-ia infelicidade? Quando o médico a quem Jeremy a levara lhe dissera que ela estava grávida, Ellen desatara em choro. Na sua inocência, não tinha compreendido muito bem que o casamento em geral produzia filhos. Tanto Jeremy como o médico tinham ficado admirados com aquela reação, mas Ellen apenas pudera gaguejar: “Espero... espero... que não incomode meu marido”. Os dois homens lhe haviam dito que deveria ficar feliz. Mas, lembrando-se de sua infância, Ellen não se sentia feliz. Certa vez, chegara mesmo a pensar, zangada: “Se a criança ferir Jeremy... eu a matarei!”
— Estou muito bem — disse Ellen. — Muito bem. Como está você hoje, titia?
A enfermeira, Srta. Ember, mulher de mais ou menos quarenta anos, de proporções avantajadas, disse, animadamente:
— Vamos muito bem, Sra. Porter! Tivemos um bom jantar e apreciamos cada bocado.
— Quer dizer, a senhora apreciou — replicou May, ficando logo amedrontada, pois a enfermeira era “superior” a ela socialmente. Acrescentou, então, em tom de desculpa: — Eu não quis dizer isso, senhorita. Gostei do jantar, embora não tenha apetite.
A Srta. Ember continuou sorrindo, embora sentisse desprezo, no íntimo. May lhe fizera confidências demais, procurando consolo por ter deixado a casa da Sra. Eccles. Por isso, a enfermeira era condescendente com Ellen, também, e mostrou-se agora menos cortês do que de costume. May repetira muitas vezes à enfermeira (na sua busca patética de compreensão) que Ellen era “apenas uma criada”, realmente, fora de sua condição, e que um dia se arrependeria disso. A Srta. Ember, portanto, muitas vezes se mostrava impaciente e pretensiosa quando Ellen indagava do estado de May. Costumava dizer, com arrogância:
— Tenho certeza, minha senhora, de que o médico sabe qual o estado dela e não precisamos de nenhum outro conselho.
Com Jeremy, era obsequiosa. Mas, na ausência de Cuthbert, quando conversava com os outros empregados, zombava da “patroa”. Se Cuthbert não fosse severo em matéria de disciplina e encarregado da direção da casa, tendo um grande conhecimento dos “dependentes”, teria ali havido um caos, com os empregados mostrando-se arrogantes e a patroa ficando aterrorizada. Felizmente Cuthbert conhecia muito bem a natureza humana e sua tendência para a exigência e para a malícia, o mesmo acontecendo com Jeremy.
Como de costume, May queixou-se de dores e de insônia, enquanto Ellen ficava sentada ao lado dela com um sorriso fixo.
— Com certeza vocês farão muito barulho lá embaixo, hoje à noite, enquanto eu estiver tentando dormir — disse May.
— Você precisa conservar a porta fechada, titia — replicou Ellen. — Procuraremos não fazer barulho. Afinal de contas, as salas ficam quatro andares abaixo deste.
— E você ficará batucando no piano de novo — queixou-se May. — Um barulho horrível! Você não deve procurar chamar a atenção de seus superiores, Ellen. Isso é vulgar.
A enfermeira sorriu desagradavelmente, empertigando-se como que concordando.
— A Sra. Porter ainda não a aceitou, Ellen? — perguntou May.
— Jeremy é que não aceitou a mãe, tia May — replicou Ellen, com bem-humorada ironia.
— Que pecado! Sua própria mãe! “Honra teu pai e tua mãe para que tua vida seja longa na terra que te foi dada pelo Senhor teu Deus.”
— Acho que os pais também deveriam honrar os filhos — disse Ellen. — Isto é, se os filhos merecerem ser honrados. — Acrescentou, com certa tristeza: — Mas a maioria das crianças não merece isso, não é? — Ela falara maciamente, como que de si para si, temendo de novo por Jeremy e receando a inimizade de seu filho ainda por nascer. — Jeremy diz que sua mãe é quem deve agora fazer o próximo gesto, porque ele fez o primeiro.
— Mas a Sra. Porter é uma pessoa de classe, Ellen! E você não é. Você deveria humilhar-se, pedir-lhe perdão.
— Pelo fato de Jeremy me amar? — A voz geralmente controlada de Ellen soara um pouco mais alta.
— Sabe exatamente o que quero dizer, Ellen — replicou May, severamente. — Por casar-se com ele, contra a vontade dos pais dele.
— Jeremy não pede licença a ninguém — disse Ellen.
Sentiu-se de repente muito cansada. A atmosfera do quarto sufocava-a; o fogo da lareira estava quente demais e muito próximo. Ela desejava sair dali, mas sua consciência a impedia de fazer isso. Sentiu-se enjoada novamente, fraca e pesada. A Srta. Ember observava-a com uma animosidade sorridente. “Que criatura vistosa!”, pensou. “Mas parece que hoje não carregou tanto na pintura.”
— Espero que você hoje à noite vá usar uma roupa adequada e respeitável — disse May, com aquela nota de censura sempre presente em sua voz fina.
— Vou usar o vestido de veludo preto e meus brilhantes. É o que Jeremy deseja.
— Você fica parecendo uma atriz barata com aquele vestido, Ellen! Por que não usa o de lã marrom, simples, e um brochezinho?
— Jeremy não aprovaria.
— Na sua idade, e sendo casada, você deveria vestir-se com mais decoro.
Ellen levantou-se com ar cansado.
— Procuro ser agradável a Jeremy — disse.
May olhou-a com ar furtivo e comentou:
— Recebi hoje uma carta da Sra. Eccles.
— Ótimo — disse Ellen, ajeitando o vestido de veludo cor de damasco.
— Ela está muito contente porque o Sr. Francis se estabeleceu em Nova York. — Como Ellen nada dissesse, May continuou: — Se ao menos tivéssemos ficado em Wheatfield, que era o nosso lugar! Satisfeitas, em paz, cumprindo o nosso dever. E o Sr. Francis cuidando de nós.
Ellen se sentiu de novo sufocada. Não contara a Jeremy que Francis a visitara na véspera e que ela pedira a Cuthbert que não mencionasse a visita. Sabia que Jeremy não teria gostado. Sua sensação crônica de culpa tornava-a nervosa. Ela não sabia por que motivo Jeremy iria ficar aborrecido. Mas, de certo modo, intuitivamente, sabia que Francis confiava nela para guardar silêncio sobre a visita. Percebera-o pela voz baixa do rapaz e pela maneira significativa com que olhava por sobre o ombro, como se tivesse medo de que alguém os estivesse escutando, ou de que Jeremy surgisse de repente.
Quando se dirigia para seus aposentos no terceiro andar, para vestir-se — ao crepúsculo quente e sombrio, acentuado pela luz suave de abajures acesos aqui e acolá — Ellen pensou naquela visita. A criada de quarto deixara de fora seu vestido e suas joias. A neve assobiava contra a janela e o vento batia nas vidraças. O fogo estava aceso na lareira de mármore preto. Os aposentos eram grandes e bem-proporcionados, atraentes devido à delicada mobília em estilo francês, aos espelhos, aos grossos tapetes orientais. Em geral Ellen apreciava esse luxo, sentindo-se grata e alegre. Hoje ela nada viu.
Quando Cuthbert lhe trouxera o cartão de Francis, com algumas palavras escritas no verso, ela estava praticando no piano de cauda preto que Jeremy comprara para ela. A mensagem dizia: “Por favor, receba-me por alguns minutos, Ellen”. Sua primeira reação fora de prazer por Francis ter-se lembrado dela, por bondade. A seguinte fora de constrangimento, ao pensar em Jeremy, que detestava o primo. Mas certamente ele não se importaria que Francis se lembrasse de sua protegida. Assim, Ellen dissera a Cuthbert que levasse Francis para a biblioteca, onde seriam servidos xerez e biscoitos. Lembrava-se de que Francis detestava uísque e preferia vinho.
Ela fora para a biblioteca usando um vestido de veludo azul-claro com rendas, e estendera timidamente as mãos, dando as boas-vindas a Francis. A luz sombria da tarde de inverno, entrando pelas janelas, fazia com que ele parecesse muito austero quando tomou-lhe as mãos, inclinando-se ligeiramente e com certa rigidez. Mas os olhos dele, menores agora por detrás do pincenê, examinaram-na com agudeza e ela se sentiu embaraçada e perplexa.
— Foi muita gentileza sua ter vindo, Sr. Francis — murmurou ela, indicando-lhe uma cadeira. — Folgo em vê-lo.
— Também estou feliz por vê-la, Ellen — disse ele, num tom que indicava uma misteriosa censura. De repente ela se sentiu de novo como uma criada presunçosa na casa da família Porter. Ficou parada sobre o belo tapete, sem saber o que dizer, enquanto Cuthbert discretamente servia o xerez, arranjava os guardanapinhos e oferecia a salva de prata com biscoitos. Depois Cuthbert, que via e entendia muita coisa, puxou uma cadeira para ela, perto do fogo. Ellen sentou-se, sentindo-se desamparada e desambientada, e olhando atentamente para Francis.
— Ouvi dizer que está agora vivendo e trabalhando em Nova York, Sr. Francis — disse ela. — Fico contente... se o senhor estiver contente.
“Estou em Nova York, porque você está morando aqui”, pensou ele. “E também porque preciso protegê-la.” A expressão de Francis tornou-se mais severa e mais pedante, enquanto ele sorvia o seu xerez.
— Eu também tenho ambições, Ellen.
— Sem dúvida. Todos os cavalheiros são ambiciosos, não são? — murmurou ela.
— Nem sempre na direção certa — replicou Francis, com um tom sentencioso. Ellen soube imediatamente, consternada, que ele se referia a Jeremy, e ficou aborrecida. Nunca compreendera a hostilidade entre os dois primos, nem percebia que ela era a causa de a antiga hostilidade ter-se tornado maldosa e cheia de ódio. Meses antes, Jeremy desconfiara que Francis amava Ellen e rira consigo mesmo, achando-o ridículo, ficando zangado e até mesmo ofendido por “aquele molenga, aquele hipócrita e embusteiro” ter ousado olhar para Ellen. Para Jeremy, aquilo era um insulto à sua mulher e não uma homenagem.
Por um motivo qualquer, a gentil moça sentiu uma súbita irritação por Francis. Teve que fazer um esforço para lembrar-se da solicitude dele, para poder apagar o exaspero que sentira ao perceber a atual pretensão do rapaz e as críticas veladas que ele lhe fazia. Por que motivo, também, Francis a olhava tão estranhamente, com um misto de afeto e de censura? Ela começou a sentir-se cada vez mais como uma intrusa em sua própria casa, uma intrusa insolente, cuja mera presença era incômoda e inaceitável.
Muito sensível às emoções das outras pessoas a seu respeito, Francis percebeu que a moça o olhava com uma expressão peculiar nos olhos azuis. Sorriu, conciliador, dizendo:
— Vim porque queria ver se você estava bem, Ellen. Minha tia, sinto dizê-lo, está muito preocupada. Recebeu uma carta um tanto estranha de sua tia May...
— Estranha, como? — perguntou Ellen, atônita.
— Pois bem, estou traindo uma confidência... Li a carta. Sua tia acha que você está com saudades de Wheatfield e não se sente feliz em Nova York. Escreveu que também ela tem saudades e anseia por voltar para a casa de minha tia.
— Deus do céu — exclamou Ellen, corando de aborrecimento. — Isso é muito errado da parte de tia May. Ela está sendo tratada maravilhosamente, aqui, com uma enfermeira particular; tem seu próprio apartamento e tudo o que possa desejar.
— Talvez ela prefira outra coisa — observou Francis. Quando Ellen apenas o encarou, contraindo um pouco os lábios, ele acrescentou: — Afinal de contas, Nova York deve parecer uma cidade muito estranha para ela. Parece estranha para você, Ellen?
A moça não percebeu a nota de condescendência na voz do rapaz e ficou apenas constrangida.
— Não, Sr. Francis. Amo Nova York. Sinto-me muito feliz aqui e meus dias são cheios, com preceptores e professores de música, e estou aprendendo a dançar e estudando canto, também.
Francis ergueu as sobrancelhas desbotadas e sorriu com certa superioridade, parecendo estar se divertindo polidamente.
— E gosta de tudo isso, Ellen?
— Adoro. — Ela não gostava de xerez, mas agora o sorveu para escapar à ironia de Francis. “Por que hei de me sentir desajeitada?”, pensou.
— Você está pálida, até mesmo abatida. Vive muito fechada, talvez?
— Claro que não, Sr. Francis! Faço longos passeios de carro quase todos ós dias, vou sempre visitar galerias de arte, museus, vou à ópera, assisto a concertos... com uma nova amiga minha, a mulher de um dos colegas de Jeremy. E Jeremy e eu jantamos muito fora e também recebemos aqui.
— Mas você me parece abatida, Ellen — disse Francis, tendo de novo na voz aquela nota levemente irônica, com uns laivos de censura.
Ela não podia contar-lhe que estava grávida. Seria falta de pudor.
— Não estou nada desanimada — replicou. — Mas, afinal de contas, estou agora com dezoito anos e não sou mais a menina que o senhor conheceu, Sr. Francis.
Então ele ficou aborrecido. Achou que Ellen estava sendo petulante e não estava conhecendo o seu “lugar”, dirigindo-se daquele modo a ele, um cavalheiro. Ora, ela estava sendo realmente impertinente! Era o que acontecia com as pessoas que se erguiam acima de sua situação, quando deveriam ter se sentido felizes em seu próprio meio. Os pensamentos de Francis tornaram-se confusos; ele desejava repreendê-la e ao mesmo tempo queria tomá-la nos braços, beijá-la e acariciá-la, e dizer que a amava. O pensamento de que Jeremy a abraçava com intimidade o deixava doente física e mentalmente. Fechou os olhos por um momento para afastar a visão lasciva, abrindo-os depois para olhar o corpo de Ellen, os seios intumescidos, as coxas agora mais arredondadas. Por um momento seus olhos pousaram na área pélvica sob o vestido solto de veludo. Imaginou-a na cama com ele, e a expressão de seu rosto mudou tanto que Ellen perguntou, vivamente:
— Aconteceu alguma coisa, Sr. Francis?
— Não. Não, nada, Ellen. É que andei preocupado com você. Afinal de contas, de certo modo você se achava sob os meus cuidados, em Wheatfield. Eu queria ter certeza de que você estava... satisfeita. (A respiração de Ellen fazia seus seios subirem e descerem. O rapaz sentiu um desejo quase incontrolável de aproximar-se dela, segurar aqueles seios, desnuda-los, beijá-los.)
Ellen sorria ternamente, pois estava pensando em Jeremy.
— Estou muito satisfeita, Sr. Francis. Obrigada. Mais xerez?
— Não, obrigado, Ellen. — Ele falou amavelmente, como alguém que se dirigisse a uma jovem e estimada empregada que estivesse sendo solícita, embora com “um ar exageradamente fino”. Hesitou, antes de continuar: — Ellen, eu gostaria de visitá-la de vez em quando, à tarde, secretamente, para poder tranquilizar minha tia.
Ellen falou com desusada franqueza:
— Quer dizer, Sr. Francis, que não deseja que eu mencione a meu marido sua visita, ou visitas?
Acima de tudo, Francis detestava confrontações abertas, franqueza e aproximações inequívocas. Considerava-as cruas e até mesmo pouco civilizadas. Depois ele se lembrou de que precisava ser paciente com aquela moça inocente, que viera de um meio vulgar e plebeu. Preceptores e professores, francamente! Que ridículo!
Abaixando delicadamente as pálpebras, ele respondeu:
— Ellen, você sabe que Jeremy e eu nada temos em comum, embora sejamos primos. Ele não compreenderia por que motivo me preocupo com você, como realmente me preocupo. Ele é muito brusco...
De novo Ellen teve que se lembrar de que Francis sempre fora bom para ela e de que, de sua parte, havia uma amizade por ele. Francis fora a primeira pessoa em sua vida, com exceção de May, que demonstrara alguma solicitude por ela. Dera-lhe o seu primeiro par de luvas de pelica; fora como um irmão para ela.
— Não gosto de enganar Jeremy — observou Ellen. Fez uma pausa, refletindo, enquanto ele a observava e desejava seu corpo jovem, querendo beijá-la na boca. — Pois bem, não desejo preocupá-lo, tampouco, embora não veja como ele poderia fazer objeção à sua atenção por mim, Sr. Francis. Não creio que se opusesse a isso; talvez até ficasse satisfeito. Em todo caso, se o senhor prefere que eu não lhe conte...
— Prefiro que não conte, pelo menos por enquanto, Ellen. Mais tarde, talvez. Jeremy e eu de vez em quando nos encontramos no fórum; espero darmo-nos melhor, com o tempo.
Ellen inclinou a cabeça, embora sentisse certa inquietação, tendo de novo a antiga sensação de culpa. Amor e confiança... Ela sempre se esquecia disso. O Sr. Francis certamente merecia essas duas coisas, e ali estava ela, quase o insultando, apesar do que lhe devia. Francis tinha uma percepção quase feminina, embora em geral não gostasse das mulheres. Percebeu o significado da expressão da moça e disse:
— Você precisa lembrar-se, querida, de que é apenas a minha preocupação por você e por sua tia que me trouxe aqui.
— Sim, sei, e não posso agradecer-lhe suficientemente. Faça o favor de dizer à Sra. Eccles que tia May está muito melhor do que quando se achava em Wheatfield, que a maior parte do tempo não tem dores, e que eu sou muito feliz. Tia May tem todos os cuidados que o dinheiro pode dar e a afeição que lhe dedico.
Francis notou, decepcionado, que a dicção e as maneiras de Ellen tinham melhorado quase que milagrosamente naqueles últimos meses e achou que tudo era fingimento. Levantou-se, assim como Ellen, que ficou satisfeita por ver que ele ia partir. Estendeu-lhe a mão e ele não se conteve. Inclinou-se e beijou os lábios macios, e o contato daquela boca quase o fez gritar. Mas foi em voz contida que disse:
— Adeus, Ellen, por enquanto. Voltarei logo, se me permitir.
— Por favor, volte — disse Ellen. Ficara surpreendida com aquele beijo, mas depois se lembrou de que ele se sentia como um irmão para com ela e ficou emocionada. O rapaz saiu, em busca de sua carruagem. A rua estava cinzenta, chovia granizo e ele estremeceu. Detestava Nova York. As longas fileiras de casas vermelhas revoltavam-no; achava que o fitavam com hostilidade. A porta da casa de Jeremy fechou-se atrás dele. Francis foi para um apartamento pequeno e barato na West Twentieth Street, numa casa que recentemente fora convertida em apartamentos particulares para “cavalheiros”, para grande consternação da vizinhança. Depois de ter visto Ellen, e ainda sentindo o contato dos lábios dela, a perspectiva de voltar para o seu apartamento era singularmente triste e ele sentiu um estranho desespero.
Cuthbert estivera-os ouvindo discretamente e observando-os a alguma distância. Sorrira levemente de si para si. Não se iludia. Entrou na biblioteca, onde Ellen se achava distraidamente diante do fogo, e perguntou:
— Mais alguma coisa, senhora?
— Não, não, Cuthbert. Esse senhor é primo do Sr. Porter.
— Foi o que percebi. Não se parecem muito, não é mesmo?
— Não, de fato, não — replicou Ellen, com tal fervor que Cuthbert sorriu levemente. Ela hesitou. — Cuthbert... parece... pois bem, parece... que o Sr. Francis Porter e meu marido não estão... não estão...
— En rapport, senhora? Foi o que me pareceu. A senhora não quer que eu diga que recebeu uma visita hoje?
Ellen sentiu-se envergonhada. Disse:
— Isso mesmo, Cuthbert — e saiu da sala quase a correr.
Lembrou-se disso quando distraidamente se vestia para o jantar que Jeremy daria naquela noite. Pensou em Walter Porter, pai de Francis. Não soube por que motivo sentiu um alívio súbito, uma feliz antecipação. Gostava muito de Walter. Ele fazia questão de que ela o chamasse de “tio Walter”, olhando-a com uma admiração que Ellen não compreendia e também com muito afeto.
— Madame está muito bonita esta noite — disse Clarisse, a empregada de Ellen, abotoando o vestido de veludo preto. Pegou o vidro de perfume Worth e borrifou com ele o pescoço e os braços da patroa.
Ellen riu, replicando:
— Madame está um pouco confusa, Clarisse.
Ouviu os passos de Jeremy na escada. Ele raramente usava o elevador. Ellen correu alegremente ao encontro do marido e atirou-se em seus braços, dizendo:
— Oh, meu querido, como estou feliz por vê-lo, tão feliz!
— Pois bem, não estive ausente durante anos — disse ele, apertando-a contra o peito e roçando-lhe os cabelos com os lábios. — Por que está tão animada?
— É porque... porque Deus é muito bom para mim, por menos que eu o mereça — respondeu Ellen. Pensou em Wheatfield e estremeceu, agarrando-se mais a Jeremy e olhando com adoração para o rosto tenso e moreno.
— Você precisa soltar-me, Ellen — disse ele, admirado com a excitação desusada da esposa. — Tio Walter está na biblioteca à nossa espera, tomando o meu melhor uísque escocês. Preciso vestir-me. Você está divina, como sempre, e eu preferiria ir para a cama com você, agora, a receber nossos convidados.
Ela corou e murmurou no ouvido dele:
— E eu também. — Olhou à volta de seu belo quarto de vestir e suspirou, enlevada.
Capítulo 13
A jovem senhora que se tornara a melhor amiga de Ellen em Nova York era esposa de um dos sócios de Jeremy na firma de advocacia. Havia muito tempo que ela amava Jeremy Porter, fato que ele logo descobrira. Mas, sendo um cavalheiro, fingira nada perceber, poupando assim a sensibilidade daquela senhora. Jeremy esperava que o velho aforismo “o inferno não conhece maior fúria do que a de uma mulher desprezada” não se aplicasse àquele caso. Tratava-se da Sra. Jochan Wilder, que tinha o apelido de Kitty. Embora Jeremy tivesse sido sempre mulherengo, sentia repulsa por Kitty, pois ela era como uma gatinha preta e sinuosa, com movimentos vivos, rosto magro e pequeno, tez cor de oliva, olhos redondos cor de ágata e dentes enormes e brancos. Os dentes eram chocantes naquele rosto miúdo e, quando ela sorria, pareciam ir de um lado a outro do rosto e, pior ainda, de cima a baixo. (Ela tinha orgulho deles.) O rosto de Kitty raramente estava em repouso e, mesmo então, tinha uma vivacidade felina, enquanto ela esperava que os outros terminassem de falar para que pudesse despejar uma torrente de palavras em voz tão estridente, tão insistente, tão veemente, que irritava o ouvinte. Depois ela ria ruidosamente e os dentes sobressaíam tanto que as feições pareciam adquirir menor significado, ficando quase obliteradas. Para tornar os dentes ainda mais visíveis (brilhantes e úmidos), ela pintava de vermelho os lábios grossos, tendo o hábito de pôr a língua entre eles. Achava isso irresistível.
Era uma mulher pequena, de um metro e cinquenta e dois, mais ou menos, tão magra que precisava usar enchimento no busto e nos quadris. As mãos eram ainda mais morenas do que o rosto de pele seca, e estavam sempre gesticulando. Quando ela não estava dando gargalhadas (achava que tinha um tremendo senso de humor), ficava murmurando enquanto os outros falavam. Apesar disso, era muito elegante, animada, viva, sabida, e ronronava como uma gata, animal com o qual se parecia. Era sofisticada. Tinha um astucioso conhecimento da natureza humana em todos os seus aspectos e explorava-o sempre que possível, às vezes em proveito próprio e às vezes por mera malícia.
Por um motivo qualquer, que deixava perplexo até o astuto Jeremy, Ellen a achava fascinante. Comentava:
— Ela é muito soignée, distinguée, como diria M. Penser-res. Tem elegância e espírito, e é muito amável. Ensiname muita coisa que devo saber sobre Nova York e seus habitantes, leva-me a toda parte durante o dia, mostrando-me tudo o que há para ver, a fim de que eu... — Ellen hesitou — ... não me envergonhe de minha ignorância.
“De sua perigosa inocência, é o que quer dizer, meu amor”, pensava Jeremy.
— Ela me ensina a escolher minhas roupas, também — disse Ellen, certa vez, defendendo a nova amiga. — Você admira minhas roupas, não é? Kitty escolheu todas elas, principalmente o vestido de veludo cinza com topázios amarelos no corpete, aquele que você mais aprecia, assim como os brincos, o bracelete e o colar que combinam com o vestido. Não há nada que Kitty não saiba a respeito de tudo. Você deve convir que seu gosto é perfeito. Eu queria comprar um vestido vermelho e Kitty não deixou, por causa da cor dos meus cabelos. Foi ela que escolheu minha criada particular, Clarisse, e Clarisse é ótima, embora eu não entenda de empregadas particulares. Kitty tem-se mostrado incansável comigo. É muito boa; não sei por que faz isso, pois não sou uma boa companhia para ela.
Mas, de certo modo, Jeremy sabia. Kitty Wilder era uma mulher muito rica, com fortuna própria, e seu marido era quase tão rico quanto ela. Apesar disso, Kitty tinha ambições. Era uma mulher incontentável, sempre estendendo as mãos avidamente para alguma coisa que considerasse mais importante, mais satisfatória para sua fome, para suas aspirações. Não tinha paciência com os lutadores, os conscienciosos, os satisfeitos, os cumpridores de seus deveres. Havia muito percebera que Jeremy Porter tinha vocação para o poder, acima de qualquer coisa, e que, em muitos pontos, era tão inquieto quanto ela. Em todo caso, a inquietação de Jeremy era masculina; a dela era felina, apesar de voraz. A perseguição não muito sutil de Kitty a Jeremy, antes, não fora apenas por desejo físico (embora ela fosse uma mulher sensual, frequentemente exigindo demais do marido, que acreditava que as mulheres não deviam demonstrar prazer na cama, se fossem verdadeiras damas). O desejo de Kitty por Jeremy era causado pela potencialidade dele como líder cruel, um homem poderoso em todos os sentidos, que nunca estaria satisfeito, como ela jamais estava satisfeita, embora se considerasse uma rainha da sociedade. Kitty pressentia sucesso para Jeremy e ela adorava o sucesso.
Detestava Ellen e ria intimamente das “ideias e maneiras caipiras” dela, mas tinha o cuidado de ocultar esses sentimentos, mostrando-se sempre atenciosa. (Kitty tinha trinta e três anos.) Achava que, por intermédio de Ellen, estando sempre em casa dela, poderia seduzir Jeremy, ou aproveitar-se da estrela dele, ou, melhor ainda, que seu marido poderia aproveitar-se dela. Gostaria de obter as duas coisas, mas ficaria encantada mesmo com uma só. Ficava fascinada pelas grandes qualidades de Jeremy; amava até o som da voz dele. A voz do marido de Kitty era um tanto alta, e ele tinha o hábito deplorável de dar risadinhas. Era um homem alto, magro, muito louro, já começando a ficar calvo e era um perfeito cavalheiro. Kitty não era uma dama, apesar de ter berço, de todo o seu dinheiro e de ter frequentado uma ótima escola de aprimoramento, apesar de seus parentes, corretos em sua conduta e na maneira de conversar e, pelo que Kitty suspeitava, corretos também na maneira de pensar. Kitty Wilder não admirava o decoro. Poucas pessoas desconfiavam de sua natureza calculista, e o marido não era uma delas. Ele achava a esposa viva e divertida, apesar das indiretas venenosas que ela lhe dirigia. Amava-a mesmo quando ela se mostrava mais sorridentemente detestável. Acreditava que a esposa era apenas cheia de vivacidade e de alegria.
Nem mesmo Jeremy negava que ela era muito inteligente. Kitty era patrona das artes, da ópera. Morava com o marido numa casa de pedra cinzenta na Fifth Avenue, decorada com extraordinário bom gosto, sem a menor nota de vulgaridade. Seu bom gosto e seu discernimento eram famosos. Não tinha filhos, com o que se alegrava.
Seus amigos dedicados — e eram muitos, atraídos por seu constante bom humor, seu bom gênio e seu mundanismo, sua família e seu dinheiro — achavam-na bonita, embora Jeremy a considerasse uma das mulheres mais feias que ele jamais conhecera, tão “seca” que parecia feita de tendões, pele escura e ligamentos esticados.
— Ela nunca fica quieta, nem por um instante — queixou-se Jeremy a Ellen, certa vez. — Fico cansado, só de olhar para ela.
A isso, Ellen replicara:
— Oh, Jeremy, Kitty é muito cheia de vida, só isso. Não é monótona e pesada como eu.
Jeremy respondera:
— Você é muito repousante, meu amor.
E Ellen, sorrindo e suspirando:
— Um colchão de penas também é.
Kitty sempre ficava imaginando, encolerizada, por que motivo Jeremy se casara com “uma estúpida, uma grandalhona, de rosto e corpo tão desagradáveis. Ela parece uma das lavadeiras que trabalham para mamãe. Cheira a sabão acre, pelo menos no temperamento, cheira a grama recém-cortada e a roupas engomadas”. Kitty era uma criatura da cidade. Não gostava do campo, da simplicidade, das sombras longas e douradas que o sol lançava nos gramados verdes, ao entardecer. Embora sua família tivesse uma enorme “casa de campo” em Long Island, de frente para o mar, cercada de árvores e de flores, ela detestava-a e jamais ia lá, nem mesmo no verão. Gostava do calor de Nova York em julho e em agosto, pois detestava o inverno e até mesmo o outono com o seu perfume de macieiras. Ria alegremente quando dizia isso aos amigos. Eles que saíssem da cidade no verão, se assim o desejassem! Ela não conhecia lugar mais agradável do que Nova York, em qualquer estação, e ficava contente quando o verão acabava e todos os seus amigos voltavam do estrangeiro, ou do “campo”. Sempre que possível, evitava lagos, rios e o mar, pois tinha aversão a eles.
— A cabeça de Kitty é grande demais para o corpo e ela a acentua com aquele enorme pompadour preto — disse Jeremy, certa vez, quando Ellen estivera falando da beleza de Kitty.
— Ela tem lindos cabelos pretos, querido!... Macios, brilhantes, lisos, sempre bem penteados. Nem mesmo um vento forte os desarruma.
Jeremy não tentava desencorajar a estranha amizade entre Ellen e a mulher mundana e sofisticada e, conforme ele desconfiava, má. Percebia que Kitty estava polindo as maneiras de Ellen, procurando dar-lhe segurança, o que o amor dele não podia fazer, pois Ellen achava que era somente por amor que Jeremy lhe fazia elogios, e não porque ela realmente os merecia. Mas, quando Kitty às vezes fingia admirá-la, Ellen ficava feliz e acreditava naquela falsidade. Pois Kitty não lhe dissera inúmeras vezes que sentia grande afeição por ela?
— Às vezes eu preferiria que você fosse mais cautelosa com as pessoas, Ellen — disse Jeremy. — É muito bom “amar e confiar”, contanto que as poucas pessoas que você conhece mereçam isso.
— Kitty merece — declarou Ellen, com convicção. — Do contrário, como poderia suportar-me?
Jeremy não riu, como teria feito meses antes. Apenas olhou para Ellen com sombria apreensão, imaginando o que mais ele poderia colocar em seu testamento, em codicilo, para protegê-la.
Kitty sempre tinha cuidado de não deixar que Ellen desconfiasse que ela a achava desajeitada e “impossível” e também “uma vergonha para o pobre e querido Jeremy”. Ellen fizera confidências à amiga, e Jeremy o lamentava, embora nunca tivesse encontrado um jeito de dizer à esposa que sua origem e sua antiga condição de doméstica não eram as melhores coisas para granjear a admiração da sociedade de Nova York. Ele tentara preveni-la, o mais delicadamente possível. Dissera:
— Ninguém, querida, se preocupa realmente com os outros, e um pouco de mistério a seu respeito e de sua origem talvez fosse mais interessante.
Com sua aguda sensibilidade, Ellen replicara, com lágrimas nos olhos:
— Sei disso; você tem vergonha de mim e foi sempre este o meu maior medo.
Ele a xingou talvez pela primeira vez. Apertou-a e sacudiu-a, dizendo:
— Você é uma idiota, Ellen. Eu estava apenas tentando protegê-la da maldade de pessoas cruéis, e a maioria das pessoas são cruéis.
Ela não compreendeu e chorou mais ainda. Jeremy levou várias noites para convencê-la de que a adorava e jamais teria casado com outra mulher, e que Ellen era a alegria da vida dele.
May era mais direta. Ellen cometera o erro de levar Kitty para ver a tia. Embora Kitty se mostrasse solícita, estando elegante, perfumada e tendo maneiras impecáveis, dizendo a May “sou muito dedicada à sua encantadora sobrinha”, May a detestara e desconfiara dela imediatamente. Mas Kitty era uma mulher de “classe” e, portanto, tinha direito a ser respeitada. Mais tarde, May dissera a Ellen:
— A Sra. Wilder é uma dama e não demonstra que não a tem em grande conta, Ellen, mas sei que a verdade é essa. Percebo essas coisas. Ela quer algo, e não é você, Ellen. As boas maneiras dela não são forçadas como as suas, querida. Vêm naturalmente, devido à família, à escola, ao dinheiro, ao sangue. Mas sob essas boas maneiras ela esconde o que pensa. Todas as pessoas de classe fazem isso, mas você não trabalhou em casa delas o tempo suficiente para saber. Uma dama como a Sra. Wilder não é amável com uma pessoa como você sem uma razão, Ellen, e a razão não é ela achar que você mereça essa amabilidade.
— Oh, tia May, que outra razão ela teria?
— Não sei, mas não creio que seja uma coisa boa para você. Tenho um pressentimento...
A Srta. Ember, a enfermeira, também tinha um “pressentimento”. Ela tampouco se iludira com Kitty Wilder, embora tivesse ficado impressionada com ela, reconhecendo sua classe imediatamente. Ficou imaginando o que uma dama como a Sra. Wilder poderia “ver” numa desajeitada como a Sra. Porter, com aquele horrível cabelo vermelho, rosto corado e ausência de sofisticação. A Srta. Ember, conhecendo a vida, desconfiava que a causa da atração fosse “o patrão, o Sr. Porter”. A enfermeira teve um sorriso safado. Detestava “pessoas de classe”, embora as servisse com dedicação e humildade.
Kitty não falava de Ellen com as amigas, nem zombava dela. Era esperta demais para isso, pois até mesmo a melhor das amigas tinha o hábito de repetir mexericos, não por maldade e sim pelo prazer de fazê-lo, sem perceber que era uma traição. Kitty sabia também que os mexericos sempre acabavam chegando aos ouvidos da pessoa visada, às vezes com resultados desastrosos. Assim, embora sorrisse quando os outros especulavam sobre Ellen e sua origem, ela apenas encolhia os ombros e dizia:
— Pois bem, quem é que pode saber? Há muitos esqueletos nos armários de todo mundo, como se costuma dizer.
— Mas a gente gosta de saber qual a família e a origem das pessoas — disse uma senhora a Kitty, certa vez. — É mais do que natural.
— Todos nós sabemos que ela veio de uma cidadezinha perdida, na Pensilvânia, de uma família pobre, mas respeitável. Jeremy disse que a conhecia bem, e chegou mesmo a insinuar que Ellen teve um antepassado ilustre.
— Ela é muito bem-educada e respeitosa com as pessoas mais velhas — observou uma senhora idosa. — É fina e tem uma aristocracia natural, embora a maioria de vocês, senhoras jovens, não seja assim. Reconheço um sangue bom. E ela tem uma boa cabeça, embora seja um pouco tímida. É tudo um mistério.
— Que continue assim — replicou Kitty, que não tinha a mínima intenção de ver Jeremy diminuído pelas amigas dela, nem desejava que ele ficasse constrangido. “Embora Jeremy talvez não ligue a mínima a tudo isso”, pensou. “Não. Essas mulheres não conseguiriam constrangê-lo. Ele é muito senhor de si, muito forte.”
Kitty percebia que Jeremy lhe dava mais atenção quando estava com Ellen e isso lhe bastava, por enquanto. Achava que estava fazendo progressos em ambos os seus objetivos. Enquanto isso, seu marido estava se-tornando cada vez mais monótono e tímido com ela. Kitty ficava deitada ao lado de Jochan pensando que era Jeremy que ali se achava, e todo o seu corpo magro vibrava.
— Quê? Você está grávida! — exclamou Kitty, quando Ellen, encabulada, lhe contou a novidade. — Que contratempo! Que infelicidade! No auge da estação!
— Infelicidade? — disse Ellen. Toda a apreensão a respeito da criança voltou-lhe, mais agudamente.
— Sim. É ainda uma recém-casada! Que idade disse que tem, querida?
— Dezoito anos. Mas que...
“Dezoito anos! Muito mais”, pensou Kitty. “Sou observa-dora. Mas esse tipo de pessoa sempre mente. Elas pensam que a mocidade é tudo; Ellen tem pelo menos vinte e quatro anos.” Disse:
— Conheço um médico muito bom, muito discreto, e eu teria prazer em dizer-lhe uma palavrinha a seu respeito.
— Para quê, Kitty? Já tenho um bom médico, amigo de Jeremy. Ele acha que estou muito bem de saúde. Eu... já estou no quarto mês.
— Não é tarde demais — replicou Kitty, bruscamente. — Pode-se dar um jeito. — Seus olhos redondos, cor de ágata, brilharam, fitando a amiga. Depois percebeu que Ellen não entendera nada, e sua antipatia e seu desprezo aumentaram. Inclinou-se e murmurou: — Quero dizer... A criança pode ser tirada. Fiz isso três vezes.
Ellen encarou-a, confusa. Depois corou vivamente e virou a cabeça para o outro lado, compreendendo vagamente. Ficou horrorizada.
— Eu não poderia... — gaguejou, sentindo uma grande vergonha, porque agora entendia. — Jeremy... quer... o filho.
Kitty era muito viva. Riu e seus dentes enormes brilharam, úmidos como os de um tigre.
— Mas você não quer?...
— Eu... não sei — replicou Ellen. — Tenho medo de crianças, lembrando-me de como eram, no meu tempo de menina. Não são “anjos”, absolutamente, apesar do que muita gente diz. Muitas são demônios.
— Então faça o que sugeri, querida.
Ellen sacudiu a cabeça.
— Jeremy jamais me perdoaria. Seu marido a perdoou, Kitty?
— Nunca lhe contei. — Kitty refletiu: um filho poderia unir Jeremy mais ainda a Ellen, ou talvez não. Homens como Jeremy não eram pais vaidosos. Frequentemente achavam as crianças repulsivas ou aborrecidas, e fugiam das esposas, que geralmente preferiam o quarto das crianças à companhia dos maridos. Ellen era desse tipo, com aquele busto grande. Kitty teve uma expressão de repulsa.
— Bom, talvez você tenha razão — disse, dando uma pancadinha na mão de Ellen. — Você dará uma mamãe maravilhosa.
— Não me sinto como uma mamãe — replicou Ellen. — Sou apenas a esposa de Jeremy e é só isso o que quero ser.
“Tenha uns pirralhos e ele não será um grande marido para você, querida”, pensou Kitty, intimamente sorrindo de satisfação. O marido dela, Jochan, estava cada vez ficando mais amigo de Jeremy, admirando-o muito. Kitty acreditava que o crédito era dela, pois não tivera a habilidade de arranjar que os Porter jantassem em casa dela pelo menos duas vezes por mês? E ela e o marido não jantavam com os Porter o mesmo número de vezes, também? Os quatro estavam se tornando “íntimos”. Jeremy estava sendo comentado como o próximo congressista do distrito, pois era muito respeitado. Em certa época ela tivera esperança de que Jochan demonstrasse certa ambição e habilidade políticas, mas ele não tinha a crueldade, a inteligência disciplinada e nem a força de Jeremy Porter. Jochan, tampouco, jamais arriscaria qualquer coisa; era a própria cautela, qualidade admirável num advogado, mas fatal num político. Jochan amava o seu dinheiro mais do que Jeremy amava o dele. Kitty, uma jogadora, reconhecera um jogador em Jeremy, quando lhe fora apresentada.
Mas um político bem-sucedido tinha o poder de arranjar cargos de importância, e Kitty estava decidida a fazer com que seu marido conseguisse um, por intermédio de Jeremy. Depois de Nova York, Kitty gostava de Washington, onde seu pai, em determinada época, fora senador. A família muitas vezes fora recebida na Casa Branca.
Quando a primavera chegou, Ellen não podia mais esconder sua gravidez, por mais que usasse roupas largas e soltas. Além do mais, desconfiava que a Srta. Ember, enfermeira de May, já tivesse percebido seu estado e estivesse esperando, maldosamente, que a tia recebesse a notícia. A enfermeira desconfiava que Ellen achava que a tia não iria ficar contente com a novidade e que a estava poupando o maior tempo possível.
Certo dia Ellen lhe pediu, timidamente, que saísse do quarto por alguns minutos. A Srta. Ember saiu imediatamente, mas ficou num lugar conveniente, perto da porta. Ouviu Ellen perguntar a May como iam suas dores e o que o médico dissera naquela manhã, e ouviu a tia responder irritadamente, suspirando. Ellen gaguejou um pouco e a Srta. Ember sorriu, e encostou mais ainda o ouvido na porta. Houve um pequeno silêncio e depois May exclamou, angustiada:
— Não! Oh, meu Deus, não, Ellen! Como foi que aconteceu?
“Eu poderia contar a essa cadela velha”, pensou a enfermeira, rindo de si para si. Imaginava o constrangimento de Ellen, suas mãos cruzadas nos joelhos, sua infelicidade.
Ellen estava sentada ao lado da tia diante da lareira permanentemente acesa, mas as janelas estavam abertas para o ar vivido da primavera; as cortinas estremeciam e o ruído do tráfego da Fifth Avenue chegava até elas, nítido e alegre. Ellen disse, em tom súplice:
— As pessoas geralmente têm filhos quando se casam, não é, tia May? E Jeremy está muito feliz. Não sei por que você acha que é uma tragédia, uma desgraça.
O ar primaveril fez os cabelos de Ellen esvoaçarem. O rosto da moça demonstrava a ansiedade que sentia por May, que estava realmente consternada.
— Sim, ele havia de ficar satisfeito, não é? — exclamou May, trêmula, empertigando-se na cadeira.
Lá se ia sua última esperança de que ela e a sobrinha fossem banidas dali e voltassem para Wheatfield e para a casa da Sra. Eccles. Lágrimas rolaram pelo rosto cinzento e enrugado. Ellen ajoelhou-se diante de May como uma criança penitente, mas ao mesmo tempo perplexa e confusa. Procurou segurar a mão da tia, mas May retirou-a e cobriu o rosto com ambas as mãos.
— Não compreendo, tia May. Claro que Jeremy está contente.
— Você não tem vergonha, Ellen? — perguntou May, ainda com o rosto oculto pelas mãos, usando a mesma frase que usara com sua irmã, a leviana Mary.
— As mulheres geralmente têm vergonha quando vão ter um filho? — perguntou Ellen, cada vez mais perplexa.
— Sim, têm! Elas sabem... elas sabem... como foi que começou!
Ellen corou, mas sorriu ligeiramente ao lembrar-se.
— Todos nós nascemos desse jeito, titia. Não há vergonha nisso.
May descobriu o rosto úmido de lágrimas.
— Uma dama sente vergonha, Ellen, mas a questão é que você não é uma dama, como eu sempre lhe disse, e é por isso que não sente vergonha.
Ellen levantou-se lentamente, voltou para sua cadeira e observou a tia com ar inocente.
— Conheço três senhoras que também vão ter filhos e elas não sentem vergonha. Falam sobre isso umas com as outras e comigo também. Claro que não se apresentam mais em público, nem vão a festas, mas também faço o mesmo. Apenas ando a pé com Jeremy à noite, conforme o médico recomendou, para tomar ar e fazer exercício.
Mas May voltara ao passado, dezenove anos antes, quando sua irmã mais moça lhe confessara seu “estado vergonhoso”. Foi a Mary que May se dirigiu agora, e não à sobrinha, e fê-lo de maneira agitada.
— Que vamos fazer? Que podemos fazer?
Ellen ficou atônita.
— Não compreendo o que quer dizer, titia. Não há nada que possamos “fazer”. — Estaria May pensando no que Kitty sugerira? — Sou uma mulher casada; sou a esposa de Jeremy. Essa criança é nossa e estou contente por saber que meu marido se sente feliz com isso.
— As crianças são uma maldição! É terrível ter filhos! — exclamou May.
Ellen empalideceu, pois sempre tinha medo do que o filho pudesse vir a fazer a Jeremy. Mas disse, com suficiente energia:
— Nem todo mundo pensa assim. Jeremy não pensa. — Refletiu, com compaixão, que sua pobre tia não tinha podido dar esse prazer ao marido e tentou de novo pegar a mão de May, mas esta a repeliu.
— Que faremos com essa... criança? — perguntou May, pensando na irmã. — Para onde irá você?
O belo rosto de Ellen adquiriu uma expressão perplexa.
— Ora, meu lar é aqui, tia May. Não irei a parte alguma. Jeremy e o médico já contrataram enfermeiras...
May interrompeu-a brutalmente.
— Ele a expulsará, quando souber!
A confusão de Ellen aumentou.
— Mas ele sabe, desde o princípio, titia. Por que haveria Jeremy de “expulsar” a esposa e o filho?
— Os homens são todos iguais! É só amor, até eles deixarem a moça nesse estado, perdida. Depois, eles dão o fora!
Ellen ficou de novo admirada.
— Mas, titia, não estou “perdida”. Sou uma mulher casada. Jeremy é meu marido e aqui é o meu lar.
May estava trêmula e doente. Procurou focalizar a vista na sobrinha, mas no rosto de Ellen via o rosto de sua querida irmã Mary.
— Não podemos ficar mais aqui. — Fez uma pausa. Depois viu o rosto de Ellen nitidamente. — Nunca deveríamos ter deixado Wheatfield e a Sra. Eccles. Eu a preveni, Ellen.
Agora a força que estava no íntimo de Ellen, sob a suavidade e a inocência aparentes, surgiu momentaneamente. Sua voz ainda soou bondosa e paciente, mas ela não pôde deixar de dizer:
— Acho que você não está bem, titia. Vou chamar a Srta. Ember.
Ellen levantou-se, mas a tia lhe agarrou a mão. Seus dedos deformados estavam quentes.
— Você nunca me dá ouvidos, Ellen! Sempre foi voluntariosa e determinada, e veja o que aconteceu, como eu sabia que iria acontecer! Desgraça. — Ela chorou de novo de saudades de seu quartinho frio e nu na casa da Sra. Eccles, acreditando que lá estivera segura e em paz. Nada estava “certo” em seu mundo atual, tudo era caos, incerteza, desconfiança quanto ao destino, convicção de catástrofe.
Ellen disse, calmamente:
— Não existe desgraça nenhuma, titia. Sou a mulher mais feliz do mundo. Adoro Jeremy. Ele é, como dizem em Romeu e Julieta, “senhor, amante e amigo”. É assim que me sinto em relação a ele. Sei que Jeremy também me ama. Por que outro motivo se casaria comigo? Ninguém o forçou a isso. Ele foi me buscar em Wheatfield, tirou-me da infelicidade e da desesperança e me deu... bem-aventurança. Eu nunca lhe disse, titia, o que sentia em casa da Sra. Eccles. Infelicidade e desespero. O negrume de minha existência!... Tentei falar-lhe sobre isso, mas você se recusava a compreender. Nem que fosse só por esse motivo, eu amaria Jeremy por ter me tirado de lá e se casado comigo.
May mal a ouvia.
— Você pode dizer tudo isso de uma senhora que foi tão boa conosco? Que nos abrigou quando ninguém mais nos queria?
Ellen pronunciou suas primeiras palavras ásperas sobre alguém:
— A Sra. Eccles é uma mulher detestável, tão má, à sua moda, quanto a Sra. Porter!
Imediatamente Ellen teve uma sensação de culpa e sentiu-se mal. Virou-se para a porta, mas May a agarrou de novo.
— A Sra. Porter! Que é que ela pode estar pensando desse... desse... Ela nunca mais falará com você, Ellen, e é o que você merece. Que vergonha...
Através dos lábios frios e rígidos, Ellen replicou:
— Ela já sabe. Escrevi-lhe há um mês.
— E que foi que ela lhe respondeu? — perguntou May, inclinando-se interessadamente para a sobrinha.
— Você sabe perfeitamente que ela não ficou... contente... com o nosso casamento, tia May. Mas respondeu, não a mim e sim a Jeremy. Ele nunca me mostrou a carta, mas disse que ela espera que seja um menino.
— Nunca lhe mostrou a carta! Fico imaginando o que terá escrito!
— Para mim não tem a mínima importância, titia; Jeremy e eu temos um ao outro. E haverá... nossa família.
Então, dirigiu-se para a porta, mas, antes que pudesse abri-la, May exclamou:
— Você já pensou nas dores, no sofrimento que todas as mulheres sentem? E muitas mulheres morrem quando têm filho!
— Não pretendo morrer, titia. — Ellen ficou comovida, pensando que a tia estivesse preocupada com ela. — O médico disse que sou muito sadia e que não deverei ter problemas. Dores? Ouvi falar nisso, mas nenhuma dor será demais, se for para a felicidade de Jeremy. Agora preciso ir-me embora. Vamos ter convidados. Procure descansar, querida tia May. Sei que isso deve ter sido um choque para você, que sempre teve medo por mim.
Abriu a porta. A enfermeira já se afastara para uma distância discreta, no corredor. Ellen lhe disse:
— Acho que minha tia precisa da senhora, Srta. Ember. Talvez uma pílula extra, daquelas que às vezes a acalmam. E um jantar muito leve, por favor.
Sem esperar pela resposta da mulher (Ellen falara com desusada firmeza), desceu as escadas. Seus joelhos estavam bambos. Ficara mais perturbada do que pensara, com os inexplicáveis comentários da tia. Cuthbert entrava no saguão, saindo da biblioteca.
— O Sr. Porter, o Sr. Francis Porter está aí, senhora.
Ellen sentiu uma impaciência pouco habitual. Desejara consultar Cuthbert a respeito do jantar — um dos poucos que daria até o nascimento da criança — e sentiu-se de repente muito cansada e com vontade de deitar-se. Hesitou, na escada. Teria subido novamente, se não soubesse que Francis devia ter ouvido Cuthbert.
— Muito bem — disse ela, com uma nota pouco comum de cansaço na voz. — Faça o favor de nos trazer xerez e biscoitos, Cuthbert.
Fazia um mês que Francis não aparecia e Ellen esperava que ele não voltasse. Quando percebera essa esperança, ficara envergonhada e tivera de novo uma sensação de culpa. Lembrou-se também de que Jeremy derrotara Francis em mais três causas. Entrou na biblioteca, sorrindo, mas o sorriso era menos radioso do que de costume.
Francis estava de pé, diante da lareira. Virou-se quando a ouviu entrar. Ellen estendeu-lhe a mão, cumprimentando-o com a timidez costumeira.
— Estive fora, querida Ellen — disse ele, certo de que a moça sentira a sua falta. — É ]5or isso que fiquei tanto tempo sem vir aqui. — Ainda se dirigia a ela com a bondosa condescendência de antigamente, mas dessa vez Ellen a percebeu e ficou contrariada.
— Faça o favor de sentar-se, Sr. Francis. Está ficando frio, depois de um dia quente e agradável, não é?
Ele notou a nota pouco habitual da voz de Ellen e contraiu as sobrancelhas. Não era do feitio de Ellen mostrar-se “presunçosa” e parecer de repente não ter consciência de sua classe inferior. Ele esperou até a moça sentar-se, instalando-se depois ao lado dela.
— Sentiu minha falta, Ellen?
— Se senti a sua falta? — exclamou ela, admirada. Imediatamente achou que estava sendo indelicada e sentiu-se culpada. — Eu... pensei... Tenho andado muito ocupada, Sr. Francis. Tanta coisa! O tempo passa muito depressa, não é?
— Principalmente quando se está feliz? — observou ele, em tom seco.
— Sim — respondeu Ellen. Alguma coisa estava errada, mas ela não sabia o quê. Sabia apenas que desejava que ele partisse, para poder deitar-se. Ainda não falara a Jeremy dessas visitas e esperava que nunca precisasse falar-lhe, se Francis não aparecesse mais. Ficou observando Cuthbert servir o xerez da garrafa de cristal e percebeu que estava ficando com dor de cabeça. — Sim, sou muito feliz, E o senhor, Sr. Francis? Como tem passado?
Ele sempre considerara Ellen muito estúpida. Seria possível que não soubesse que ele fora três vezes derrotado pelo bruto do marido dela? Mas, naturalmente, Jeremy sabia que, em sua inocência e ignorância, a esposa conhecia muito pouco do mundo. “É uma mulher, mas não amadureceu”, pensou Francis. “Será isso parte de seu encanto? Por que fico sofrendo quando estamos separados... sofrendo por causa dessa bela criadinha? ”
— Estou muito bem, Ellen — respondeu, formalmente. — Minha tia, a Sra. Eccles, manda-lhe lembranças.
— Muita amabilidade da parte dela. Diga-lhe que também lhe mando as minhas.
Francis ficou sobressaltado. Ellen estava de novo sendo impertinente e isso o aborreceu.
— Estive também com sua sogra e com o Sr. Porter, quando fui a Preston, há duas semanas.
Ellen ficou em silêncio. Sorveu seu xerez, olhando para Francis por sobre a borda do copo. O rapaz achou que ela estava fingindo ser inescrutável. Que ares adquirira! Enquanto o observava, Ellen refletia: “Será que os pais de Jeremy lhe falaram da criança?”
— Como vão os pais de Jeremy? — perguntou.
— Bastante bem — respondeu Francis, com uma bondosa severidade. — Ainda estão sentidos com a... desafeição de Jeremy. — Perguntou: — Você sabe o que desafeição significa, Ellen?
Ela não pôde deixar de sorrir.
— Meus preceptores são muito bons, Sr. Francis. E tenho lido muito, desde criança. Sim, sei o que desafeição significa. Não é culpa de Jeremy. Ele... procurou os pais... várias vezes. Se preferem ficar afastados, isso é com eles, não é?
— Jeremy é filho único e, naturalmente...
Devido à dor de cabeça, Ellen replicou um tanto bruscamente:
— Naturalmente o quê, Sr. Francis?
— Você deve saber que eles tinham esperança de que o filho se casasse com aquela moça de Scranton.
— A gente não pode deixar de decepcionar as pessoas de vez em quando, não é, Sr. Francis? — disse Ellen. O vestido azul que usava realçava-lhe o brilho intenso dos olhos, embora ela não sorrisse.
O pedantismo de Francis, sempre evidente, se acentuara nos últimos meses. O autocontrole, sempre muito grande, de repente desapareceu e o rapaz se inclinou para Ellen, dizendo, impensadamente:
— Seu bem-estar, Ellen, sempre me preocupou. Você sabe disso.
A moça fraquejou, lembrando-se de que ele sempre fora bom para ela. Ficou imaginando por que motivo se mostrara tão acerba e sentiu-se culpada.
— Sim, Sr. Francis. Eu sempre soube. Sou uma ingrata.
O rapaz percebeu que a “reduzira” de novo à sua verdadeira situação e ficou satisfeito. Ellen inclinou-se para lhe oferecer o prato de biscoitos. O vestido marcou suas formas e ele notou o que ainda não tinha percebido.
Por um instante, pensou que fosse vomitar, ali mesmo na biblioteca.
— Aconteceu alguma coisa, Sr. Francis?
Ele pôde apenas murmurar:
— Não. Não aconteceu nada, Ellen. A questão é que tenho trabalhado muito e hoje está muito quente. — O suor manchava-lhe a testa e ele podia senti-lo.
Ellen levantou-se e abriu um pouco mais a janela perto do rapaz, fitando-o com solicitude. Estava tão próxima de Francis que ele pôde sentir-lhe o cheiro do corpo e da sua água-de-colônia adocicada. Sentiu o calor daquele corpo, a sensualidade inocente da qual ela não tinha conhecimento. Desejou agarrá-la, prendê-la, chorar no busto de Ellen, agora mais cheio, como ele mesmo percebera. Queria falar-lhe de sua sensação de degradação, de seu amor, de sua tristeza. Estava trêmulo de desejo.
— Assim está muito melhor. Obrigado, Ellen.
A moça puxou sua cadeira para mais perto dele, dizendo:
— Os senhores, homens, às vezes trabalham demais. Digo sempre isso a Jeremy. Fico preocupada. Talvez o senhor precise de descanso. Jeremy e eu... depois de... quero dizer, neste verão, vamos comprar uma casa em Long Island, para passar o verão, e espero que ele descanse um pouco.
Francis estava agoniado; tinha uma sensação de perda quase insuportável. Soube agora que, no íntimo, sempre esperara que seu primo se cansasse logo de Ellen (aquele mulherengo!) e que a moça o procurasse, a ele, Francis, para que a confortasse e a abrigasse.
— Será agradável — murmurou o rapaz, enxugando a testa com o lenço.
Ellen sentiu remorso novamente. De algum modo, ferira os sentimentos de Francis, que fora bom para ela e para May.
— Sr. Francis, não está com boa aparência! Prefere um conhaque?
— Não. Não, querida Ellen. Faz tanto calor...
Ela levantou-se e colocou a mão na testa de Francis: estava quente e úmida. Inclinou-se, examinando-lhe o rosto. Seus olhos estavam próximos dos dele e o rapaz notou-lhes a expressão de ansiedade. Aquilo foi demais para ele. Colocou os braços à volta de sua cintura, puxou-a para mais perto e beijou-a na boca, repetidas vezes, apaixonadamente, enquanto ela ficava ali de pé, atordoada, de lábios entreabertos, espantada e com medo. Procurou libertar-se, mas o abraço era muito forte.
— É uma cena muito comovente — disse Jeremy, à porta. — Há quanto tempo está acontecendo, se é que eu, um simples marido, não estou sendo muito rude por perguntar?
Ellen e Francis sobressaltaram-se. A moça libertou-se e Francis levantou-se, pálido e trêmulo. Ambos olharam, estupefatos, para Jeremy, ainda à porta. O rosto do marido de Ellen estava sombrio, tal a sua cólera. Quando pôde recompor-se, Ellen aproximou-se do marido, mas ele a afastou com certa brusquidão, olhando apenas para o primo que ainda não conseguia falar. Ellen segurou o braço do marido.
— Jeremy! O Sr. Francis sentiu-se mal e eu estava tentando ajudá-lo, para ver se estava com febre. — Ela não podia compreender a cólera visível de Jeremy. Pensou que fosse por ter encontrado Francis ali. — Sinto muito... Eu devia ter-lhe contado antes. O Sr. Francis às vezes vem visitar-me... ele me conheceu antes de você, Jeremy. Sempre se preocupou com o meu bem-estar...
— Não tenho a mínima dúvida — declarou Jeremy, ainda não olhando para ela.
Finalmente Francis conseguiu falar:
— Não é o que você está pensando, Jeremy.
— E o que é que eu devo pensar? Um estranho agarrando minha mulher?
Ellen nunca o ouvira falar assim e ficou mais amedrontada com o tom do que com as próprias palavras, que ela não compreendia.
— Eu devia ter lhe contado — repetiu ela. — Mas sabia... achava... que vocês não gostavam um do outro, e o Sr. Francis sugeriu...
Agora Jeremy a fitou. Ellen não pôde suportar isso e estremeceu.
— Que foi que o Sr. Francis sugeriu, minha querida?
Ellen pôs a mão na cabeça dolorida.
— Acho que não me lembro muito bem. — Virou-se com ar súplice para Francis, que parecia prestes a desmaiar. — O senhor não disse, Sr. Francis, que era melhor não contar a Jeremy que vinha visitar-me, porque não gostam um do outro? Sim, acho que foi isso. — Agora estava mais alarmada com a aparência de Francis do que com a atitude de Jeremy. — Eu devia ter contado a Jeremy desde o princípio, Sr. Francis. A culpa é toda minha.
Jeremy disse, com ar selvagem:
— É sempre sua “culpa”, não é, Ellen, quando as pessoas se aproveitam de você, ou a enganam, ou a exploram? Estou começando a acreditar que de certo modo você tem razão. Pois bem, Francis, perdeu a língua?
— Ellen disse a verdade...
— Toda a verdade e nada mais que a verdade?
Francis não respondeu.
— Sim, é verdade, Jeremy — declarou Ellen. — Sim, eu deveria ter lhe contado. Sentia-me culpada, mas achei que era melhor assim.
— Você tem uma mente má, Jeremy, assim como é um homem mau — disse Francis. — Acho que já vou. Ellen, não a importunarei mais com minhas visitas. Eu apenas queria saber se você estava feliz... e segura.
— Naturalmente — replicou a pobre Ellen, achando que agora tudo fora resolvido.
Mas Jeremy estava rígido, de braços caídos, punhos fechados. Disse:
— Se algum dia você aborrecer de novo minha mulher, eu o matarei. Compreende? Eu o matarei. Eu sabia que você estava de olho nela há muito tempo.
— Jeremy! — exclamou Ellen, agora aterrorizada. — De que está falando?
Olhou de um para o outro, sentindo ânsia de vômito.
— Eu o matarei — repetiu Jeremy.
Nesse momento Cuthbert apareceu discretamente, trazendo o sobretudo, o chapéu e a bengala de Francis. Jeremy olhou para a bengala, mas Cuthbert entregou-a vivamente a Francis, ajudando-o a vestir o sobretudo. Ellen deu um passo de lado e caiu numa poltrona, trêmula. Jeremy continuava à porta. Foi Cuthbert quem o afastou para que Francis pudesse passar, o que fez muito rapidamente.
Cuthbert acompanhou o visitante até a porta e depois sumiu.
Muito pálida, Ellen fitou o marido com uma expressão severa, que ela nunca tivera antes.
— Jeremy, você foi muito grosseiro com o pobre Sr. Francis. Ele me conhece desde criança, fez tudo o que pôde por tia May e por mim, quando sua mãe, Jeremy, nos ameaçou com a polícia e tudo o mais. Ele apenas queria saber se estou bem. Sinto muito. Eu deveria ter contado a você desde o princípio, mas ele achou melhor eu nada dizer. E você pagou a bondade dele com palavras cruéis e insultuosas. Estou muito aborrecida com você.
Jeremy olhou para a esposa e relaxou. Sempre ficava admirado quando percebia o pouco que ela conhecia a respeito das pessoas e o quanto era vulnerável. Mas ainda estava encolerizado. Pegou-a pelos ombros e fê-la erguer-se, puxando-a para junto dele. Não sabia o que lhe dizer. Não queria destruir a inocência de Ellen, mas estava enfurecido. Começou a sacudi-la, embora sem rudeza, e ela tentou sorrir, timidamente, pois o marido muitas vezes a sacudia assim.
— Ellen, ouça-me. Contei-lhe muitas das minhas causas no tribunal. Pensei que me ouvisse e que finalmente estivesse compreendendo que este mundo é terrível e que você precisa acautelar-se contra ele. Mas você jamais compreendeu, nem acreditou em mim, não é?
— É também um mundo muito bom e bonito, Jeremy. Há nele mais bondade do que maldade.
— Não diga!... Pois bem, eu também lhe contei algumas coisas sobre o mundo dos negócios, não é? Foi para sua proteção, Ellen, pois é possível que eu morra antes de você.
— Oh, não, eu não poderia continuar vivendo! — exclamou Ellen, e a criança em seu ventre estremeceu de pavor. Colocou a mão sobre a barriga, como que para acalmar o filho.
Jeremy disse, agora com suavidade:
— Você precisa enfrentar a vida, Ellen. Não morrerá, se eu morrer. Terá filhos. Não se preocupe. Ouça-me com cuidado, meu amor. Quero falar-lhe sobre pessoas como o meu querido primo. Ele é do tipo que se aproximará insidiosamente de qualquer pessoa, por um motivo: conquista e domínio. Com você, ele se serviu de sua gratidão, de sua piedade. É esta uma das grandes armas deles; e têm outras. Quando lhe contei certas coisas, Ellen, pensei que compreendesse um pouco e que talvez fosse possível que, no futuro, você se protegesse não somente contra pessoas do tipo de Francis, mas contra milhares de outros destruidores. Sim, destruidores. Ele é um dos piores tipos, dos mais implacáveis, mais inclementes, assim como dos mais desprezíveis. Você compreende, não compreende?
— Não completamente — respondeu Ellen. Jeremy agora lhe segurava a mão amorosamente e isso lhe bastava. — O Sr. Francis não é nada implacável, nem inclemente. É um homem muito bom. Sei disso.
— Desisto — declarou Jeremy, largando a mão da esposa. — Ellen, você não é estúpida. É de fato muito inteligente. Pode compreender música, literatura, poesia e filosofia, às vezes até melhor do que eu, porque é intuitiva. Mas a sua intuição não funciona com as pessoas, não é? Funciona somente em assuntos abstratos, em coisas que não podem protegê-la. Não creio que eu deseje que você seja uma segunda Kitty Wilder. Deus me livre. Mas certamente ela lhe tem falado a respeito do mundo, não tem?
— Ela é muito espirituosa — disse Ellen, sentindo uma ponta de inveja, pela primeira vez na vida. — Mas sei que está apenas sendo engraçada, quando fala dos outros; não é maliciosa.
— Deus de piedade! — exclamou Jeremy. — Sim, desisto, realmente. Ellen, ouça-me. Quando eu falar com você, ouça com atenção. Quando Kitty falar, ouça. Não quero que você se torne dura e cínica. Quero apenas que saiba o que este mundo é realmente: um covil de lobos. Até mesmo os santos sabiam disso, mas isso não os deixou amargurados, nem fez com que se virassem contra a humanidade. Ficaram apenas tristes, ao que me consta. Então, ouça, Ellen. Fiquei triste, se quiser, e você ficará. O conhecimento não destrói necessariamente a inocência; apenas lhe fornece armas, quando isso é preciso. Que diabo de coisa vou fazer com você?
— Pode beijar-me — disse Ellen.
Mas Jeremy sacudiu a cabeça, suspirando.
— Deixe-me contar-lhe o caso de uma cliente que me procurou hoje. Uma senhora muito rica. Tem quatro filhos adultos. Ela os adorou a vida inteira e acreditava que eles a amassem, também. É uma mulher um pouco parecida com você, só que muito mais velha. Seu marido morreu há seis meses e deixou-lhe toda a fortuna. Sabe o que seus filhos amorosos fizeram? Roubaram-lhe até o último níquel, nestes seis meses, as duas filhas e seus maridos e os dois filhos e suas esposas. Agora querem expulsá-la de casa. Ela amou e confiou. Está me ouvindo?
— Estou — respondeu Ellen. Pensou no filho que tinha no ventre e no que este filho poderia fazer a Jeremy e empalideceu.
— Ela me foi trazida hoje, por um amigo que a ama. Estava infelicíssima, em lágrimas. E também perplexa. Não podia compreender como e por que seus filhos dedicados podiam fazer isso com ela. Ainda não podia acreditar, pobre mulher. Procurou desesperadamente arranjar desculpas para eles, com os fatos ali mesmo na minha escrivaninha, diante dela. Disse que os filhos não tinham tido má intenção. Estava certa disso. Fiquei tão exasperado quando não consegui convencê-la, que quase recusei a causa. Imaginei-a gaguejando, no tribunal, e persuadindo o juiz de que tudo fora “um engano”, conforme ela disse em meu escritório. Então fui obrigado a mostrar-lhe não somente o documento da ação de despejo, como uma petição assinada por eles (aqueles filhos amorosos!) para que ela fosse interditada e internada num hospício particular, um que fosse barato, também. Ela desmaiou.
— Coitada — murmurou Ellen.
— Oh, meu Deus! — exclamou Jeremy. — Agora, que é que você acha do caso dos filhos e daquela mulher idiota?
Ellen refletiu, na esperança de que sua resposta fosse do agrado de Jeremy.
— Acho que ela não devia ter deixado que eles... tirassem... dela. Talvez os filhos precisassem de dinheiro. Mas ela deveria ter consultado alguém, como o amigo que a apresentou a você.
— Ótimo — disse Jeremy, dando um tapinha no ombro da esposa. — Creio que finalmente está compreendendo, Ellen.
— Mas uma mãe ama e confia...
Jeremy fechou o punho e colocou-o delicadamente, mas com firmeza, sob o queixo de Ellen.
— Se ouvir mais uma vez essa frase nauseante, minha flor, eu lhe darei uma surra. Para que adquira um pouco de bom senso.
Ellen sorriu e perguntou:
— Mas o que é que tudo isso tem a ver com o Sr. Francis?
— Tudo. Os porcos dos filhos daquela senhora apelaram não apenas para o seu amor de mãe, como também para a sua compaixão. Se é que há uma palavra repulsiva, é “compaixão”. Ninguém a usa, a não ser os destruidores, no seu próprio interesse. Estão sempre pronunciando-a, enquanto se preparam para saquear, subjugar e controlar. Lembre-se disso, Ellen.
— O mundo seria terrível, Jeremy, se ninguém confiasse, nem amasse, nem tivesse compaixão.
— Mas é uma palavra terrível, apesar do verniz rosado e venenoso com o qual as pessoas como o meu primo a encobrem, para desarmar os outros e persuadir as pessoas inocentes de que só estão pensando no bem-estar delas. Eles são só coração, os miseráveis, demonstrando desejar justiça social e o “bem-estar das massas trabalhadoras” e não sei mais o quê. Creio que já lhe falei sobre isso.
— Sim, falou, mas o Sr. Francis não é assim. Ele realmente se preocupa com o meu bem-estar.
— Ele que volte aqui, mais uma vez, para saber do seu bem-estar, e haverá no mundo um homem perigoso a menos.
Cuthbert apareceu à porta.
— Se madame quiser ir ver as aves...
— Sim, é claro, Cuthbert. Jeremy, é hora de vestir-se, não é? Vou até a cozinha por um momento.
Jeremy ficou olhando-a, quando ela saiu, e teve os piores pressentimentos. Quem é que corrompera a mente de Ellen, anos antes? perguntou de si para si. A inocência era uma coisa maravilhosa, mas não devia ser tolice. Os santos tinham sido inocentes, mas não tolos. Ele esperava que um dia pudesse ensinar a Ellen a diferença.
Segunda parte
“Isto é, realmente, ao mesmo tempo o marco e a justificativa de uma aristocracia — que está além da responsabilidade em relação à massa geral dos homens e, portanto, é superior tanto a seus anseios degradados como a suas não menos degradadas aversões.”
H. L. Mencken
Capítulo 14
No dia 4 de julho de 1904, nasceu o primeiro filho de Ellen Porter — um menino que foi batizado como Christian Watson Porter.
Era um dia quente e fétido, com um vento arenoso e um sol reluzente que penetrava até mesmo nas árvores ao longo da Fifth Avenue e na casa de Jeremy Porter, atirando sombras nas calçadas escaldantes.
Ellen acordou, transpirando e inquieta, ao lado do marido, e lembrou-se de que fora num feriado igual àquele que ela conhecera Jeremy. Por um ou dois minutos, ficou quieta, com a cabeça no travesseiro úmido. Sorriu, ante aquela recordação. Eram oito horas e, embora as venezianas estivessem fechadas e as cortinas cerradas, o sol ardente passava por qualquer fresta e ia iluminar um tapete, uma parede, o braço de uma poltrona ou a cabeceira da cama de mogno entalhado. Ellen piscou, fechou os olhos e viu uma vermelhidão, como se fosse sangue. Virou a cabeça, mas isso não adiantou. Jeremy dormia, com a fisionomia cansada e um pouco tensa. Ellen olhou para o perfil moreno e, apesar de seu desconforto, sentiu uma onda de felicidade. Tocou com a mão a camisola branca do marido, um toque leve como o de uma borboleta. Suspirou profundamente. Tinha medo de se mexer e de incomodar Jeremy, que necessitava de repouso após os longos dias de trabalho no tribunal e no escritório. A casa de Long Island já fora comprada e Ellen pensou, desejosa, nas ondas frescas do Atlântico, morrendo, espumantes, na areia perto da casa; pensou na brisa e no balanço das árvores que lançavam sombras na grama verde. A casa os esperava e eles iriam para lá dali a menos de um mês. Ellen aproximou-se de mansinho do marido e beijou-lhe o braço. O bebê só deveria nascer dali a duas semanas, mas ela se sentia estranhamente inquieta.
Estava um pouco ofegante e enxugou com cuidado o rosto úmido, afastando os cabelos do pescoço molhado pela transpiração. Queria levantar-se e sentar-se numa cadeira. A criança mexia-se no seu ventre e parecia pesar em seu corpo. Ela lutou contra o medo. Já amava o filho, porque era também de Jeremy, mas ainda tinha medo. Passara a noite quase em claro devido ao calor e à apreensão que aumentara nas últimas semanas. Menino ou menina... Iria ser inimigo de Jeremy? Ela nunca se recuperara do medo que tinha de crianças e das coisas monstruosas de que eram capazes, e esse pensamento a aterrorizava. Certa vez, impensadamente, Jeremy lhe dissera:
— É estranho, mas os crimes mais astuciosos e inteligentes são cometidos por crianças de dez anos, e são os mais difíceis de serem descobertos.
— Sei disso — replicara Ellen, lembrando-se de seu passado. Jeremy fitara-a, divertido.
— E como é que sabe?
— Não sei dizer. Mas sei.
Estivera pensando nas crianças de Preston que a tinham perseguido, desprezando-a e ridicularizando-a. Vira os rostos satisfeitos, quando a perseguiam, mesmo quando ela só tinha quatro anos; ouvira as vozes maldosas, lembrando-se das pedras que lhe atiravam. Lembrara-se das crianças, na escola, que se tinham recusado acintosamente a sentar-se perto dela, que a tinham empurrado nos corredores empoeirados, empurrões às vezes tão violentos que ela chegara a cair. Finalmente concluíra que era pelo fato de serem tão pobres, ela e May, e porque suas roupas eram muito remendadas. Jeremy observara:
— Que foi mesmo que Salomão disse a respeito das crianças? “O homem é mau desde o nascimento e mau desde a mocidade.” Que aconteceu, Ellen?
— Deve haver algumas crianças boas — replicara Ellen. — Crianças que amam e confiam e não são maldosas.
Então, naquela manhã, o medo a dominou. Lutou contra ele. Certamente o mundo não poderia continuar, se tudo fosse maldade. Talvez a maldade do mundo fosse causada pela falta de amor e de confiança por parte de... alguns. Acalmou-se momentaneamente e tentou pensar na quietude e no frescor da casa de Long Island, com seus pórticos amplos e brancos, tábuas brancas e belos jardins, e janelas largas onde cortinas de renda estremeciam ao vento fresco. Esses pensamentos fizeram com que ela se esquecesse momentaneamente dos sons na rua, lá fora, das explosões dos fogos, do ruído das carruagens, dos risos, dos passos e das saudações. O relógio deu oito e meia. Naquela manhã eles não tomariam o desjejum no quarto antes das nove horas, porque era feriado e os nova-yorkinos não se levantavam cedo nos feriados, como acontecia com os habitantes das cidades pequenas da Pensilvânia.
Haveria uma parada às onze e meia na Fifth Avenue. Ellen nunca vira uma parada importante e conseguira persuadir Jeremy a levá-la de carruagem, para apreciar o espetáculo. Já se ouvia o som distante de uma banda, e Ellen quase podia ver os dourados círculos de luz nas trombetas. Ficou um tanto excitada.
Foi aí que sentiu a primeira dor, aguda e penetrante, no meio das costas. Uma onda de dor espasmódica chegou até o ventre e ela ficou alarmada. As dores iam e vinham; ela fechou os olhos e pensou que a dor tinha passado. Seu rosto e seus seios estavam úmidos de transpiração. Depois ela percebeu que Jeremy estava apoiado num dos cotovelos, fítando-a com ansiedade.
— Não é nada. Foi só uma dorzinha e já passou — disse ela. Pegou a mão do marido e beijou-a. Jeremy deitou-se novamente, tomou-a nos braços, beijou-lhe a testa úmida e depois a boca, segurando-a delicadamente, mas com firmeza. Ellen se sentiu em paz.
Cuthbert bateu na porta, entrou discretamente, imponente e aristocrático como sempre. Trazia uma grande bandeja de prata e depositou-a numa mesinha, dizendo:
— Bom dia, senhor, senhora. — Desdobrou uma toalha de linho branco e cobriu com ela a mesa. Movia-se agilmente na atmosfera sombria e abafada. — Está um dia muito quente — disse. Evitando olhar diretamente para a cama do casal, colocou na mesa os pratos, cuidadosamente, como sempre, assim como a cafeteira de prata, um prato com melão fresco e um com torradas. Depois ajudou Jeremy a vestir o roupão.
Ellen esperou que ele saísse e moveu-se pesadamente até a beirada da cama, para que Jeremy pudesse ajudá-la a levantar-se. Sentia-se mais pesada do que de costume e mais desajeitada. Sentiu novamente uma dor aguda nas costas. Mas estava resolvida a não alarmar o marido, pois era feriado e ele apreciava a rara oportunidade de descansar e tomar o desjejum calmamente com ela. Ellen foi para o banheiro de mármore, sentando-se depois no sofá. Estava ofegante; o suor do rosto e do corpo esfriou e ela estremeceu. Foi necessária uma grande força de vontade para lavar as mãos e o rosto com o sabonete perfumado e pentear os cabelos úmidos e emaranhados. Viu seu rosto no espelho, muito pálido, com rugas à volta do nariz. A dor diminuíra e ela obrigou-se a sorrir e a voltar para o quarto, onde Jeremy a ajudou a sentar-se.
— Está sentindo alguma coisa, Ellen? — perguntou ele, quando a viu sentar-se pesadamente na cadeira.
— Não é nada. Apenas o calor. Está quase na hora, você sabe?
— Faltam duas semanas. Quer que chame o Dr. Lampert?
— Oh, ele está fora. Não se lembra de que ele disse que ia passar o feriado e o fim de semana em Boston, em visita à filha? E minhas duas enfermeiras foram passar o feriado em Newark, também. Ninguém espera que o bebê chegue antes de catorze dias. — Ellen procurou mostrar-se alegre e sorriu. — Sente-se, querido, e coma. Essas costelelas de carneiro parecem deliciosas.
Embora dissesse isso, o cheiro de comida de repente lhe causou enjôo.
— E a governante, a Sra. Frost, está de folga hoje, assim como uma das empregadas e a idiota da Clarisse, tudo por causa do feriado — disse Jeremy. — Não há ninguém aqui, a não ser nós dois, Cuthbert e uma das empregadas, assim como sua tia e a Srta. Ember.
— Elas têm poucos dias de folga, Jeremy. Preciso falar com você sobre isso, qualquer dia destes. Merecem mais. — Ellen mudou de assunto e disse, com fingida exuberância: — E você prometeu levar-me para ver a parada, ao meio-dia.
Um profundo langor começara a tomar conta dela. Ellen olhou para o prato que Jeremy preparara para ela e sentiu náusea.
— Não sei se vale a pena irmos à parada — observou Jeremy. — Você não está com boa aparência.
Esperou pelo protesto de Ellen e ficou alarmado quando ela nada disse.
— Pois bem, está muito quente — comentou a moça, finalmente. — Este é o meu primeiro verão em Nova York e aqui é muito mais quente do que em Wheatfield. Mas você deve ir, Jeremy.
— Já vi muitas paradas em Nova York — replicou ele. Pegou o jornal matutino e franziu as sobrancelhas ao ler um dos cabeçalhos. O Presidente Roosevelt observara, em vista do Dia da Independência, que “nosso destino claro é conferir ao mundo a civilização de nossa raça, nossa forma de governo, nosso espírito anglo-saxão, pela persuasão, se possível; pela força das armas, se necessário”. Jeremy refletiu: “Idiota. Será que ele não sabe quem o inspirou a dizer imbecilidades tão perigosas? Ou sabe?” Jeremy pensou nos incidentes do Canal do Panamá, não muito tempo antes, e no papel de Roosevelt no caso e na sua vaidosa observação: “Algumas pessoas dizem que fomentei a insurreição no Panamá. Não. Eu apenas fiz o primeiro movimento!” Jeremy pensou também na oferta que Roosevelt fizera à Colômbia, pelo uso perpétuo, por parte dos Estados Unidos, do território fronteiriço ao canal: dez milhões de dólares em dinheiro e uma renda anual de duzentos e cinquenta mil dólares, por trezentas milhas quadradas. Quando a Colômbia se mostrara indecisa Roosevelt ficara furioso e exclamara: “Bandidos! Corruptores, chantagistas — temos que dar uma lição a esses animais”. Escrevera ao secretário de Estado, John Hay: “Essas criaturinhas desprezíveis de Bogotá!” Chegara a pensar em mandar tropas americanas para ocupar o istmo.
Mas, estranhamente, não fora necessário. Um político ambíguo chamado Bunau-Varilla iniciou uma complicada série de negociações e ameaças. Havia também William Nelson Cromwell, que representava os direitos da companhia francesa que começara o trabalho no canal e o abandonara. O Congresso autorizara a criação do canal através das florestas e concordara em pagar à “companhia francesa” quarenta milhões de dólares por seus direitos. Algumas pessoas realistas talvez tivessem comentado (e alguns o fizeram, embora inutilmente) que a companhia francesa e os Estados Unidos tinham ignorado totalmente os “direitos” verdadeiros do governo colombiano, que governava a terra, e que nem a França nem os Estados Unidos tinham direitos absolutos lá, exceto pelo fato de a França ter antes alugado a terra por duzentos e sessenta milhões de dólares.
Então surgiu o misterioso Bunau-Varilla que, menos de um ano antes, no dia 14 de outubro de 1903, tinha se encontrado com alguns “secessionistas” do Panamá, no Waldorf Astoria Hotel, em Nova York, e decidido que a área do canal deveria ser uma república independente, separada da própria Colômbia. Assim nasceu a República do Panamá. A guarnição colombiana no Panamá se rendera docilmente — após um vultoso suborno por parte dos Estados Unidos — e se retirara. O novo presidente do Panamá exclamara, alegremente: “O Presidente Roosevelt agiu bem. Que tenha longa vida!”.
-No dia 6 de novembro, o Secretário Hay reconheceu formalmente “a livre e independente República do Panamá”. Uma semana depois, as duas nações assinaram um tratado que “dava” aos Estados Unidos a Zona do Canal; o Panamá aceitou dez milhões de dólares. A J. P. Morgan Company, de Nova York, recebeu os quarenta milhões de dólares que a princípio os Estados Unidos tinham oferecido à companhia francesa, mas ninguém soube realmente quem foi que acabou ficando com o dinheiro. Soube-se, entretanto, que o representante da companhia francesa, William Nelson Cromwell, advogado, recebeu oitocentos mil dólares.
Jeremy nunca duvidara de que o canal fosse necessário, não apenas para os Estados Unidos, como para o comércio internacional. Mas o método empregado para obtê-lo era algo que despertava as suas suspeitas. Ele sempre fora acusado de ser um homem exigente, mas detestava o oportunismo, principalmente quando envolvia arrogância, força, ameaças, suborno e corrupção, e o verdadeiro roubo da terra que não pertencia nem aos Estados Unidos e nem à França. Certa vez, Jeremy dissera que Roosevelt era o verdadeiro bandido, não a Colômbia. O fato de as boas relações entre os Estados Unidos e toda a América do Sul terem esfriado, transformando-se em inimizade por parte das nações sul-americanas, não perturbara Roosevelt, em absoluto. Ele apenas repetira, com desprezo, seus epítetos sobre os vizinhos sul-americanos, inclusive “animais” e outros piores.
Ao ler o jornal, naquele quente 4 de Julho, Jeremy procurou ser objetivo. Uma pessoa não precisava estar sempre alerta a respeito da Sociedade Scardo e do Comitê para Estudos Estrangeiros; o assunto do canal era uma coisinha pequena, não era? Ou insinuava que o “caminho para o império”, sobre o qual Roosevelt certa vez falara com aprovação, já fora tomado pela América? Se fosse verdade, quem estaria atrás disso? Não fazia parte dos planos da Sociedade Scardo e do Comitê para Estudos Estrangeiros que a América se tornasse um império mundial por si mesma. Jeremy aprendera isso. Antes parecia que aqueles hòmens misteriosos, invisíveis e poderosos queriam um governo mundial para eles próprios, com uma arregimen-tação despótica e absoluta. O canal faria parte da “conspiração”? O canal beneficiaria todas as nações... “Mesmo assim... pensou Jeremy, coçando o queixo. Ele tinha má opinião a respeito do Presidente Roosevelt. Era provável que ele não participasse da conspiração, pois sua inteligência não era muito grande e os conspiradores, no mínimo, eram homens de extraordinário intelecto e não estariam dispostos a incluir entre eles um homem com as limitadas capacidades intelectuais de Roosevelt. Era também um chauvinista e suas perorações patrióticas eram obviamente sinceras, até mesmo para uma pessoa desconfiada como Jeremy. Roosevelt amava sua pátria com orgulho e paixão. Não; ele não era homem para a sociedade e o comitê.
Mas alguém lhe dera ordens, ou lhe fizera sugestões de uma maneira muito sutil, que não poderia ofender sua dedicação e seu zelo pela pátria. Havia a questão da “libertação” de Cuba, por exemplo, e a anexação das Filipinas e do Havaí, recentemente. Apenas uma coisa poderia tê-lo emocionado profundamente, isto é, a insinuação de que a América deveria tornar-se uma força dominante e imperialista, embora mantivesse a forma de república. O fato de ele provavelmente não fazer parte da conspiração não o tornava menos perigoso. Tolos chefes de Estado, embora poderosos, podiam ser facilmente manipulados através de seu egoísmo e até mesmo de suas virtudes, ao passo que homens mais sensatos e mais astutos resistiriam, pois eram realistas. Roosevelt era claramente despido de ceticismo, o que o tornava uma ameaça maior, assim como os tolos fervorosos eram uma ameaça.
Roosevelt se candidatara à reeleição. Seu adversário era um homem bastante diferente dele, um democrata modesto chamado Alton B. Parker, que, ao que diziam, estremecia à simples menção da palavra “presidente”. Os democratas tinham entre eles alguns homens muito bem informados, inteligentes e viris. Por que motivo o Partido Democrata escolhera como seu candidato à presidência um homem que poderia ser facilmente derrotado pelo exuberante, gritador e beligerante Roosevelt?
Parecia que o americano médio adorava Roosevelt. Será que o Partido Democrata, o partido conservador da América, acreditava realmente que chegara a hora de apresentar ao povo um homem menos ruidoso, mais sensato e ponderado? Se fosse assim estava cometendo um erro terrível, pois a América ainda era um país cheio de vida, barulhento e ativo como o próprio Roosevelt. Certamente os eleitores democratas sabiam disso.
Seria possível que tivessem sido sutilmente influenciados para apresentar um cavalheiro incolor, como adversário de Roosevelt, para que este pudesse vencer as eleições?
Jeremy sempre tivera a intenção de livrar Ellen daquilo que ele considerava um “maldito sentimentalismo e vulnerabilidade”, ao mesmo tempo não incitando nela cinismo nem dureza e nem aquela sofisticação depravada de Kitty e de pessoas do seu tipo. Ele conhecera algumas senhoras, muito poucas, ao mesmo tempo elegantes e doces, com um mundanismo suave, e esperava que Ellen se tornasse uma delas. Apesar disso, desconfiava ligeiramente de que a própria inocência de Ellen era o que a tornava tão querida a ele, uma inocência que, entretanto, não excluía uma certa astúcia e intuição. Em raras ocasiões, ela revelara uma grande firmeza de caráter, que vinha de sua inocência. Sim, pois Ellen não podia suportar a crueldade, a hipocrisia, traição de qualquer espécie, nenhuma falsidade. (Apesar disso, parecia não ver essas coisas em sua amiga Kitty, o que desnorteava Jeremy.) Finalmente, ele chegara à conclusão de que Ellen não podia reconhecer esses traços quando ocultos sob sorrisos e amabilidades. Isso o consternava, pois Jeremy nunca estava desprevenido.
Em manhãs como aquela, lentas e agradáveis, ele não somente lia o jornal sem pressa, como fazia Ellen ler as notícias mais importantes, encorajando-a a expressar suas opiniões e surpreendendo-se frequentemente com a clareza, o bom senso e até mesmo a sutileza dos comentários dela.
— Ellen, leia isso sobre o nosso trêfego presidente — disse Jeremy.
Olhou para sua jovem esposa e, devido ao sorriso radioso, não notou como Ellen estava pálida, nem percebeu as rugas de sofrimento à volta de seus lábios. Como sempre, a adoração da esposa por ele o sobressaltou, como se um raio o tivesse atingido no meio da escuridão. Jeremy pensou, como muitas vezes o fizera: “Ninguém deveria amar outro ser humano como Ellen me ama. É perigoso, mortal”. Apesar disso, sentiu por ela uma ternura apaixonada, assim como medo.
Ellen pegou o jornal, mas, antes, serviu o marido de mais uma xícara de café. Jeremy notou como as mãos de Ellen, antigamente grosseiras, tinham se tornado delicadas e, de maneira comovente, até mesmo frágeis. Ela leu as palavras do presidente e franziu ligeiramente a testa. Largou o jornal e olhou para o marido com ar pensativo.
— Então? — perguntou Jeremy.
— Ele não é muito inteligente, é?
— Ninguém jamais o acusou disso, Ellen.
— Ele parece esquecer-se de que este país não é totalmente anglo-saxão e sim formado por muitas outras raças que tornaram a América grande e muito poderosa — disse Ellen. — Às vezes fico pensando no que os poloneses, os judeus, os húngaros, os franceses e todo o resto dos não-anglo-saxões acham dessas tolices?
— Não creio que dêem risada — replicou Jeremy. — Se os democratas tivessem indicado alguém de caráter e de força, em vez daquele pobre Parker, creio que poderiam ter derrotado “Teddy Bear”. Talvez não quisessem isso.
O rosto de Ellen adquiriu uma expressão ansiosa.
— Também pensei nisso. Às vezes reflito sobre o que você me contou sobre a Sociedade Scardo e o Comitê para Estudos Estrangeiros. É duro acreditar nessas vilezas.
— Você pode acreditar.
— Que é que eles desejam? Sim, você me contou. Poder. Mas deve haver mais alguma coisa...
— Há. Ódio pela raça humana — disse Jeremy. Quando viu que Ellen ficara triste, tocou de leve no rosto dela com a nião.
“Não há nada que uma moça como você possa fazer a respeito”, disse ele, para consolá-la. Ellen ergueu os olhos e Jeremy notou que seu tom azul se tornara quase penetrante.
— Mas você está tentando fazer alguma coisa a respeito, não é, Jeremy?
Ele nunca lhe contara que fora eleito membro da Sociedade Scardo. Respondeu:
— Ora, que é que posso fazer? Nada.
— Não acredito, querido.
Jeremy ficou sério.
— Espero que não tenha falado a Kitty ou aos amigos dela sobre o que você pensa a meu respeito, Ellen. — A preocupação de Jeremy chegava quase ao alarme.
Ellen sorriu levemente.
— Jeremy, nossas conversas são apenas isto: nossas conversas, um com o outro. Além do mais, creio que a maioria das senhoras que conheço têm a impressão de que sou muito estúpida. — Seu sorriso se alargou. — Talvez tenham razão.
— Descobri que uma aparência de estupidez pode ser uma boa proteção — observou Jeremy. — Contra este maldito mundo. Alguns dos homens mais inteligentes e mais sensatos que conheço muitas vezes fingem ser estúpidos. É surpreendente o quanto eles aprendem e ouvem pelo simples fato de resmungar e ficar de boca fechada.
Ellen deu uma risadinha.
— Não ouço muita coisa, a não ser mexericos e discussões sobre moda, empregados, jantares, uma coisa chamada a “nova mulher” e as feministas. Às vezes acho que isso aborrece Kitty, também, e ela geralmente muda de assunto. É uma leitora assídua da revista Everybody, e há pouco tempo citou um artigo que leu nela. “Logo nos veremos aplaudindo a mulher que trabalha e que prefere sustentar a ser sustentada. Por que uma mulher casada não há de trabalhar, se assim o desejar?”
— E o que as senhoras responderam a isso?
— Ficaram horrorizadas — respondeu Ellen, rindo.
— Não duvido. Um bando de fêmeas inúteis e mimadas. Você costuma manifestar a sua opinião?
— De vez em quando. Não que elas me ouçam.
Cuthbert apareceu para levar a bandeja, seguido por uma empregada mal-arrumada e emburrada, que estava aborrecida por trabalhar naquele dia. Ela preparou o banho de Ellen com má vontade e depois voltou ao quarto para arrumar a cama e tirar o pó, fazendo isso com gestos bruscos. Cuthbert ia saindo, mas olhou para Ellen e perguntou:
— Aconteceu alguma coisa, Sra. Porter?
Jeremy fitou a esposa com atenção, notou que sua palidez aumentara, que o rosto brilhava de transpiração e que os lábios estavam brancos. Levantou-se de um salto, alarmado.
— Ellen! Que aconteceu?
De repente Ellen não pôde falar, devido às dores intensas que sentia. Cuthbert entregou a bandeja à empregada e fez sinal para que ela saísse. Aproximou-se de Ellen e fitou-a atentamente.
— Acho que chegou a hora, Sr. Porter — disse ele.
Jeremy inclinou-se para a esposa e notou que ela estava com os olhos dilatados. O ar quente do quarto encheu-se dos sons triunfantes das bandas na Fifth Avenue. Passos apressados soaram na rua; ergueram-se vozes, risos e exclamações. Ellen moveu os lábios, mas o barulho abafou suas palavras. Ela apenas podia olhar para Jeremy, com um apelo mudo.
— Ajude-me, Cuthbert — disse Jeremy. Os dois ergueram Ellen e carregaram-na para a cama.
— Diabo, diabo! — exclamou Jeremy, parecendo muito assustado. — E Lampert está fora, assim como as enfermeiras, e estamos sós, aqui, a não ser você, Cuthbert, e uma das empregadas.
— Creio que o Dr. Lampert tem um assistente — disse Cuthbert. — Quer que lhe telefone, senhor?
— Imediatamente. Por favor. — Jeremy inclinou-se sobre a mulher. Ellen segurou a mão dele em seus dedos úmidos e escorregadios. Começou a torcer-se e a erguer as pernas numa reação espasmódica do corpo dolorido. Jeremy não estava habituado a sentir-se incapaz, mas agora tinha uma sensação de impotência e de fraqueza. Puxou uma cadeira para perto da cama.
— Ellen, Ellen — disse, conhecendo o maior medo que jamais sentira na vida. — Está sofrendo muito, meu amor?
Ela procurou conter os movimentos agoniados e tentou sorrir.
— Só um pouquinho. Por favor, não se preocupe, Jeremy.
Cuthbert voltou, ansioso.
— O assistente está no hospital com um caso dessa nova moléstia, apendicite. O senhor conhece mais algum médico, Sr. Porter?
— Há o velho Dr. Parsons, mas sofre de artrite e está quase aleijado. Há o Dr... . Não, ele me disse que ia para Long Island esta semana, velejar. Com mil diabos, parece que estamos aqui sozinhos. Não tenho muitos amigos médicos!
— Há a enfermeira da Sra. Watson, a Srta. Ember — lembrou Cuthbert, franzindo as sobrancelhas. Ele não gostava da Srta. Ember, que era alta, forte, com uma cabeça pequena e olhinhos cruéis. Usava coque e tinha um sorriso astuto, como se fosse afirmar (como, aliás, sempre afirmava): “Eu poderia dizer uma ou duas coisas se não fosse incorreto. Ética profissional, vocês sabem”.
Ao ouvir o nome da Srta. Ember, Ellen ficou momentaneamente imóvel. Seus olhos enevoados se alargaram.
— Não, não — murmurou. — Não a Srta. Ember. Nunca.
— Por que não? Ela é melhor do que nada, Ellen.
Apesar de suas dores, Ellen sentiu um terror irracional, sem saber qual a razão. Encolheu-se, dizendo, em tom súplice:
— Não, não, a Srta. Ember, não. Não sei... Mas não a quero perto de mim; nem mesmo a quero aqui no quarto.
— Isso é tolice — replicou Jeremy, procurando mostrar-se severo. — Ela é enfermeira. É competente. Deve ter feito dezenas de partos.
Mas Ellen sacudia a cabeça fracamente no travesseiro, apertando mais ainda a mão de Jeremy. — Por favor —, murmurou. Seu pavor aumentou, devido a algum instinto inexplicável.
Jeremy teve outra ideia.
— Sua amiga Kitty, Ellen. Ela deve conhecer algum médico que não conhecemos.
Disse a Cuthbert que telefonasse para a casa de Kitty. O velho praticamente saiu correndo do quarto, indo pelo corredor em busca do telefone de cima.
Nesse meio tempo, Ellen entregou-se às suas dores, embora não largasse a mão de Jeremy. Suas unhas cortavam a mão dele. Ela estava lutando contra a dor, ofegante, gemendo. Jeremy largou-lhe a mão e foi até o banheiro, voltando com uma toalha molhada, que passou no rosto contorcido, murmurando palavras sem nexo de conforto. As bandas tinham começado uma das mais ruidosas marchas de Souza; parecia a Jeremy que as paredes do quarto vibravam com o som das trombetas e dos tambores. Ouviram-se também explosões; um cheiro de pólvora chegou até o quarto. A luz se tornara fulgurante.
Cuthbert apareceu.
— A Sra. Wilder ficou muito preocupada, Sr. Porter. Vai telefonar para um ou dois médicos seus conhecidos. Depois ela mesma virá aqui, o mais depressa possível. — Hesitou um pouco e perguntou: — O senhor aceitaria a ideia de um hospital, nesta emergência?
— Deus de piedade! Não um desses lugares empestados, para os pobres.
— Alguns são excelentes, senhor, e as pessoas estão procurando-os cada vez mais.
— Não para minha esposa — declarou Jeremy. — Ela não necessita de operação e não tem moléstia alguma. Não permitirei que vá para um desses antros de infecção.
Devido ao medo, sentiu uma grande impaciência com Ellen, que não queria a ajuda da Srta. Ember. Ele não gostava daquela mulher, tampouco, mas pelo menos era uma enfermeira. Naquela emergência, era muito melhor do que nada.
Então as dores de Ellen cessaram de repente e ela caiu nos travesseiros com um longo suspiro. Fechou os olhos e cochilou. Mas o suor aumentara em seu corpo. Jeremy observava-a, enquanto Cuthbert permanecia à porta, quase tão amedrontado quanto o marido. Não gostava da “aparência” da Sra. Porter. O silêncio, a imobilidade dela o preocupavam. O corpo intumescido arredondara o lençol que o cobria. O rosto se tornara profundamente abatido.
Jeremy estava grato por Ellen ter adormecido, embora por pouco tempo. Aquilo talvez passasse. O Dr. Lampert lhe dissera inúmeras vezes que, principalmente no caso do primeiro filho, às vezes havia “rebate falso”, que não deveria causar alarme e que passaria.
Longos momentos se transformaram em meia hora e Ellen ainda dormia, embora de vez em quando movesse a cabeça, inquieta. Havia uma gota de sangue no canto de sua boca. Jeremy não o enxugou, temendo despertá-la. Ficou sentado ao lado da cama, sem ouvir o ruído lá fora, pois sua atenção estava concentrada em Ellen. Nem mesmo ouviu a campainha da porta, mas Cuthbert saiu vivamente do quarto. Voltou com Kitty, muito discreta, embora estivesse vestida elegantemente, com um costume de seda lilás e chapéu de palha com flores lilás e cor-de-rosa. Seus dentes grandes brilhavam através do véu prateado, mas ela não sorria. Foi até a cama nas pontas dos pés, colocou a mão no ombro de Jeremy e olhou para Ellen. “Que criatura desleixada, robusta!”, pensou. “Mais do que nunca, parece uma camponesa.”
Inclinou-se e murmurou para Jeremy:
— A coitadinha está sofrendo muito?
— Agora não — respondeu ele, baixinho. — Conseguiu um médico, Kitty?
Ela respondeu, em tom compungido:
— Mandei meus criados por toda a cidade. Eu mesma telefonei para alguns médicos, primeiro para o meu médico particular, mas estão todos fora da cidade, ou não têm competência para ajudar Ellen. Muitos nem mesmo são diplomados. São apenas velhos “práticos”, como se diz. Eu não os quereria nem para os meus gatos!
Na realidade, ela telefonara só para um médico. Até o fim da vida nem mesmo sua mente lúcida pôde explicar por que fizera isso, embora Kitty sempre se perguntasse a si própria, não por vergonha ou arrependimento e sim por curiosidade. Ela não gostava de ambiguidades, principalmente em relação aos seus próprios motivos. Sabia apenas que, naquela manhã, tivera uma sensação de esperança e de exaltação, à qual não sabia dar um nome.
Lembrar-se-ia para sempre de que, ao olhar para a moça sonolenta, sentira um ódio tremendo e também desprezo, uma emoção tão violenta que por um momento a deixara sobressal-tada. Lembrava-se também de que tivera consciência de uma tensão na atmosfera; olhara por sobre o ombro e encontrara o olhar firme de Cuthbert, em seu posto junto à porta. Havia no olhar dele qualquer coisa que a intimidou, a ela, que nunca se deixara intimidar por nada ou por ninguém.
— Que diabo de coisa faremos se forem realmente as dores do parto? — perguntou Jeremy. Kitty levou um susto e comprimiu a mão no ombro dele, dando-lhe depois uma pancadinha.
— Pois bem, não sou uma autoridade no assunto, Jerry. Mas está aí a enfermeira da tia de Ellen.
— Ellen não a quer nem mesmo aqui no quarto, Kitty. Suplicou-me que não a deixasse entrar. Não sei qual o motivo.
Um brilho súbito surgiu nos olhos cor de ágata de Kitty.
— Que tolice! — murmurou ela. — Ellen muitas vezes me falou da competência com que ela trata de sua tia. Não devemos dar atenção aos caprichos das mulheres nesse estado. — Kitty pensou na Srta. Ember, que lhe demonstrara a obsequiosidade devida às pessoas de sua condição social, mas que visivelmente detestava Ellen. Dava pancadinhas no ombro de Jeremy. “Querido Jerry, ser apanhado nesta situação abominável por esta criatura grosseira e sem graça!”, pensou ela. Como Ellen parecia feia, transpirando na cama, os cabelos em desordem espalhados sobre o travesseiro! Tão desgraciosa, tão vulgar. “Uma vaca”, pensou. Como é que Jerry pudera rebaixar-se a isso? Se alguma coisa acontecesse, seria bom para ele ter se livrado dela.
Jeremy continuou sentado ao lado da cama, inclinado sobre Ellen como se o mundo todo estivesse ali e nada mais existisse. Kitty notou a expressão dele; suas feições se contraíram e ela sentiu uma inveja tremenda, assim como raiva e desprezo. Sentiu-se mal com seu próprio sentimento. Tirou as luvas brancas e de seda, depois o chapéu, e colocou-os na mesa. Não sabia por que estava tremendo. Alisou o grande pompadour preto, que se erguia sobre o rosto enrugado e acentuava o vermelho dos lábios. E se a criança morresse, também?
De repente Ellen estremeceu, soltou um grito e abriu os olhos que estavam úmidos devido às dores intensas que tinham voltado.
— Oh, Jeremy — exclamou. — Jeremy, Jeremy, aju-de-me!
Ele tomou-a nos braços, mas Ellen resistiu. Kitty olhou para Cuthbert.
— Diga à Srta. Ember que venha até aqui imediatamente.
O mau cheiro de pedra quente e de urina de animal e o ofuscante brilho do sol encheram o quarto. Uma fina poeira amarela, composta de sujeira de rua e esterco seco, penetrou pelas janelas, cobrindo tudo onde pousava e tornando abafada a atmosfera. Jeremy segurava Ellen e transpirava. Alguém se inclinou sobre a moça e passou em seu rosto uma toalha molhada. Jeremy ergueu o olhar e viu a fisionomia grave e bondosa de Cuthbert. O empregado depois recuou um passo e ficou ali, como que de guarda. A Srta. Ember entrou no quarto, empertigada no seu uniforme engomado. Ela e Kitty trocaram olhares significativos e se compreenderam imediatamente. Houve no quarto uma súbita emanação de verdadeira maldade e, mesmo em seu sofrimento, Ellen sentiu isso, tanto quanto Cuthbert.
— Bom, bom — disse a Srta. Ember, como que achando graça. Olhou para Ellen, passou a língua nos lábios e seus olhos brilharam. O coque preto no alto da cabeça captou um raio de luz. Seu avental rangeu. — Parece que chegou a hora. O Sr. Cuthbert me disse que não encontraram médico. Não tem importância, Sr. Porter. Acho que posso cuidar de tudo. Agora, se os cavalheiros quiserem sair do quarto... — Segurou o pulso de Ellen, contou as pulsações e inclinou a cabeça, satisfeita. O pulso estava descontrolado.
Ellen abriu os olhos, fixou-os no rosto da Srta. Ember e teve uma contração.
— Não, não! — exclamou. — Vá-se embora! Por favor, vá-se embora! — Segurou o braço de Jeremy, desesperadamente. — Mande-a embora. Jeremy, mande-a embora.
Sentia um medo terrível e por um momento esqueceu suas dores. Tinha a impressão de que a própria morte tocara a sua mão. Cuthbert aproximou-se da cama, com seus instintos também despertos. Olhando para a enfermeira com uma expressão calma e firme, disse:
— Acho que o Sr. Porter e eu vamos ficar, por favor, enfermeira.
— Francamente, acho isso muito impróprio, Jeremy — disse Kitty. — É muito embaraçoso. — Cacarejou afetuosamente e aproximou-se da cama. — Ellen querida, sei que está sofrendo, mas logo passará. Diga a Jeremy que saia, sim? Precisam ser feitas certas coisas que os homens não devem ver. — Sacudindo a cabeça com ar de afetuosa censura, cobriu as pernas abertas e trêmulas de Ellen com o lençol e abaixou os olhos, como que escandalizada, fazendo um muxoxo.
— Não me deixe, Jeremy — pediu Ellen, entre espasmos de dor. — Alguma coisa acontecerá... Não me deixe. — Segurou a mão dele, sentindo novo terror.
— Não a deixarei, meu amor.
Um relancear de olhos como o gume de uma faca passou entre Kitty e a enfermeira. Nenhuma das duas tinha um pensamento ao qual ousassem dar um nome em suas mentes, mas a malícia e o desejo primevos ali estavam. Nenhuma perguntou a si própria: “Por que detesto essa moça e por que desejo que ela morra?” Sim, pois não haveria resposta. Até mesmo suas almas más reconheciam isso, amorfamente, mas a auto-estima e o amor-próprio não permitiam que elas encarassem isso honestamente e reconhecessem o que realmente eram.
Cuthbert disse, em voz alta e clara:
— Já vi crianças nascerem. Sei o que deve ser feito, embora eu não saiba fazê-lo.
— Francamente, isso é muito impróprio — observou a enfermeira, obsequiosamente imitando Kitty.
— É o que também são o nascimento e a morte — observou Cuthbert. Jeremy olhou para ele, atônito.
Ellen, então, viu Cuthbert e gemeu:
— Não me deixe, por favor. Não me deixe!
— Claro que não — disse Cuthbert. — Sr. Porter, o senhor podia fazèr o favor de afastar um pouco a cadeira para que a Srta. Ember... Obrigado. Sra. Wilder, toalhas, por favor. Estão aí nessa cômoda a seu lado. — Segurou com força a mão de Ellen e sorriu, dizendo: — Coragem. Somos valentes, não somos?.
Ellen sorriu para ele.
— Não, Cuthbert. Não somos. Nem um pouquinho.
De repente soltou um grito, pois a Srta. Ember enfiara na vagina de Ellen, com brutalidade, seus dedos grandes e grossos.
— Cuidado, cuidado — disse Cuthbert. — Não está lidando com uma égua, cara amiga. Trata-se de uma jovem, um ser humano. Por favor.
Kitty zombou, intimamente. Colocou as toalhas num travesseiro e ergueu as mangas da blusa. A Srta. Ember estendeu as pernas de Ellen, abrindo-as o mais possível. Estava furiosa com Cuthbert, que observava cada um de seus movimentos. “Velho idiota”, pensou. “Gostaria de matá-lo.” Esse pensamento a aliviou e ela começou a cuidar de Ellen com menos brutalidade. A fúria podia expressar-se em sua mente e ela ficou quase calma, tanto quanto frustrada. Projetou seu ódio em Cuthbert, de modo que foi como uma catarse. Olhou para Kitty por sobre o ombro, e Kitty desviou o olhar.
— Não temos água quente, numa hora destas? — perguntou Kitty. — Creio que ouvi dizer que isso é necessário. Cuthbert, quer fazer o favor...
— Prefiro não sair, senhora — disse Cuthbert, muito polidamente. — Quer fazer o favor de arranjar uma jarra grande e uma bacia?
A Srta. Ember sentiu a cabecinha da criança na vagina e teve o horrível impulso de esmagá-la com seus dedos fortes. Depois ela mesma ficou assustada com isso e seu treino de enfermeira se afirmou maquinalmente. Apenas por um instante ela sentiu uma grande náusea e seu corpo teve um rápido estremecimento. Um jato de sangue saiu do corpo de Ellen e ela começou de novo a gritar. A Srta. Ember disse:
— Uma moça tão grande, mas a área pélvica é incrivelmente pequena. Sra. Porter, coragem. Pode ouvir-me, Sra. Porter? Segure as mãos do Sr. Porter com as duas mãos e faça força. Agora!
Ao ver o sangue da esposa, Jeremy pensou que fosse vomitar. As mãos úmidas de Ellen apertavam as dele. Os olhos da moça estavam dilatados e a boca aberta. Ela não gritava, agora, mas estava ofegante. Jeremy amaldiçoou-se por ser o causador daquele sofrimento. Lágrimas amargas surgiram em seus olhos. Beijou a boca de Ellen e começou a murmurar incoerentemente, enquanto Ellen fazia força. Ela viu tão nitidamente a parte de cima da cabeça do marido que sentiu grande pena dele. — Sim, sim —, murmurou. Precisava apressar-se. Jeremy não aguentaria aquilo por muito tempo mais. Ellen sentiu um assomo de amor, apesar de todo o seu sofrimento.
Kitty tinha saído do quarto e voltou com uma empregada e uma chaleira de água fervente. A empregada olhou com repulsa para a patroa, satisfeita por vê-la sofrer, a Ellen, que sempre fora boa e delicada com ela. Deu um sorriso torto e estremeceu delicadamente, vertendo água na bacia.
A Srta. Ember dava ordens a Kitty, evitando o mais possível olhar para ela. Kitty ajudava-a, sob o olhar vigilante de Cuthbert. Sentia-se no quarto um cheiro de suor. Os rostos dos presentes estavam contraídos e cobertos de transpiração. Jeremy enxugou o queixo no ombro, sem largar as mãos úmidas de Ellen.
— Ah! — exclamou a enfermeira, com verdadeira satisfação. — A cabeça!
A cabeça da criança, cheia de sangue, apareceu. O tumulto das bandas na Fifth Avenue pareceu aumentar de volume, triunfalmente; o ruído de tambores, de trombetas e de flautas encheu o quarto. Ellen soltou um grito tão forte que por um momento abafou o som da música. Contorceu-se e gritou de novo, várias vezes. Agora era apenas uma fêmea primitiva, sem pensar em nada, devido aos insuportáveis trabalhos de parto, não pensando nem mesmo em Jeremy. Agitava-se na cama. A Srta. Ember pediu a Cuthbert e a Jeremy que segurassem a parturiente. Ellen abaixou a cabeça e mordeu o seu próprio braço, gemendo.
— Meu Deus! — exclamou Jeremy. — Oh, Cristo!
O corpo da criança apareceu.
— Pronto! — disse a enfermeira. — Mais um minuto... Pronto, aqui está a criança. E é um menino!
Estava exultante. Perdoara-se a si própria e perdoara Ellen.
— Tesoura, por favor, Sra. Wilder; Sr. Cuthbert, a toalha grande, por favor, para enxugar a criança.
A enfermeira rasgou em tiras uma toalha pequena e colocou o filho de Ellen entre suas coxas. Cortou o cordão umbilical e retirou a placenta, o que fez com que Ellen recomeçasse a gritar. Jeremy vomitou. Através de uma nuvem, viu alguém erguer o menino e limpá-lo com a toalha de linho, que ficou ensanguentada. Foi Cuthbert quem enrolou a criança numa toalha grande e macia. O quarto vibrava de alívio e de uma espécie de histerismo. Ellen parara de gritar. Estava lânguida, pálida, de olhos fechados, boca aberta. Jeremy estava prostrado e tinha a impressão de que fora ele quem dera à luz.
Alguém lhe ofereceu um conhaque. Ele ergueu os olhos e viu, através de uma nuvem trêmula, o rosto grave e sorridente de Cuthbert.
— Parabéns, senhor — disse o velho. — É um belo menino... seu filho. Um belo menino.
Jeremy agora olhava apenas para Ellen. Então ela abriu os olhos, choramingou como uma criança e depois começou a chorar de verdade, aninhando-se nos braços do marido, apesar de estar ensanguentada e coberta de transpiração. Adormeceu, sem ligar para o filho. De novo encontrara paz e consolo no marido.
Kitty Wilder espiou a enfermeira e ambas desviaram o olhar, encabuladas, enxugando o rosto. Sentiam uma aversão mútua, embora nada tivessem dito, cada qual achando a outra incrivelmente culpada e detestável. Desse modo, elas se absolveram a si próprias. Mas sentiam uma aversão mais forte por Ellen, a causa de sua culpa.
Chegaram gritos da Fifth Avenue, num crescendo, e toda a América cantou com uma alegria ingênua e um amor apaixonado e simples pela pátria, sem laivos de dúvida, nem de cinismo, nem de inquietas interrogações. Era meio-dia, um dos últimos de paz e de esperança que a América jamais conheceria. Seus inimigos estavam começando a movimentar-se.
Capítulo 15
Ellen tomou o elevador para ir visitar a tia, acompanhada por uma enfermeira que levava a criança enrolada num xale bordado, com uma cercadura de renda. May ainda não vira o menino, nem pedira notícias dele. “Chorava” dia e noite, pelo que dizia a Srta. Ember, e sua artrite piorara. Ellen sentia-se culpada; tinha negligenciado tia May, porque ficara presa na cama vários dias após ter dado à luz. (Tendo chegado dois dias depois, o médico mostrara-se preocupado com sua cliente. “Se eu tivesse tido melhores informações, Sr. Porter, teria sabido que seria um parto difícil... devido a certa anomalia da... região pélvica... É o resultado de desnutrição na infância e de árduo trabalho manual, quando os ossos ainda estavam em desenvolvimento. Raquitismo, peço-lhe que me perdoe. É raro encontrar-se essa deplorável e dolorosa condição numa mulher como a Sra. Porter, que, sem dúvida, foi mimada e querida numa infância bem-nutrida, com todo o cuidado que pais dedicados podem dar a uma filha. Muito, muito raro, realmente.”) Jeremy nada dissera, embora o médico esperasse uma resposta, com ar indagador.
Ellen ainda estava fraca e pálida, mas, quando entrou no quarto de May, chamou aos lábios um sorriso alegre e resoluto. A velha estava sentada, enrolada em xales, perto da janela, embora raramente olhasse para fora, por falta de interesse. Parecia mais velha e mais murcha, e Ellen sentiu uma ponta de remorso.
— Querida tia, aqui estou finalmente e com o meu bebê, que será batizado dentro de duas semanas! Christian Watson Porter. — Fez sinal à pajem, uma jovem simpática e corada, de cabelos louros, vestindo um uniforme engomado e aparentando eficiência. A moça ficara gostando muito de Ellen, que tinha mais ou menos sua idade. — Srta. Burton — acrescentou Ellen, indicando a pajem, que olhava para May sem sentir pena.
— Já era tempo de você vir aqui — choramingou May. — Nunca recebi uma palavra sua, Ellen, a não ser os recados que mandava pela Srta. Ember.
A Srta. Ember estava ali perto, de pé, como um granadeiro, os braços cruzados sobre o busto volumoso. Virou a cabeça e olhou com animosidade para a Srta. Burton, que retribuiu o olhar, por um momento, com uma leve expressão de ironia nos lábios polpudos e rosados.
Ellen sentou-se perto da tia. A pajem colocou a criança nos braços da mãe. Ellen inclinou-se para May.
— Olhe para ele, titia. Tem meus cabelos vermelhos e meus olhos. Jeremy diz que é a minha cara. E pesa mais de três quilos e meio! Um meninão! — Procurou dar à voz uma entonação alegre e despreocupada. May olhou de relance para o menino, depois desviou o rosto e enxugou os olhos.
— Sim, ele se parece com você. Uma pena. Você nunca foi bonita, Ellen. Muito bem.
Ellen ficou imediatamente deprimida. Sentiu uma onda de prostração. Entregou o filho à Srta. Burton, que disse, em tom resoluto:
— A Sra. Porter é a senhora mais bonita que já vi, e este menino vai ser um perigo para as mulheres, quando crescer, e vai ser grande, também. Já é maior do que muitos bebês de sua idade, e é gordinho. Olhe que cachos bonitos ele tem, e só com nove dias! Não é enrugadinho, nem vermelho, nem tem cara de macaquinho, como todos os outros recém-nascidos. Um verdadeiro perigo!
May lançou um olhar para a criança, por sobre o ombro, e seu rosto cinzento se tornou emburrado e ofendido. Evitou o olhar conciliador e súplice de Ellen. Disse:
— As crianças não são fáceis, Srta... Como é mesmo o seu nome? Burton. Não sei por que Ellen quis um filho; ela devia ter mais juízo.
— E a Sra. Porter vai muito bem — disse a Srta. Burton, que não precisava de longas explicações sobre o comportamento humano. Já vira muita coisa, na vida. — Estou contente por ver que a senhora está feliz por saber que ela está melhorando dia a dia.
— Quê? — exclamou May. — Você ainda me parece muito doente, Ellen. É o preço que as mulheres pagam por ter filhos. Ainda não entendo por que você quis... E um menino, ainda por cima! — Sua vozinha fraca censurava Ellen. Toda a sua antiga preocupação pela sobrinha desaparecera. Ellen fora voluntariosa; Ellen a atraiçoara; Ellen insistia em fingir que nascera uma dama; Ellen se recusara a sentir remorso por ter abandonado a Sra. Eccles, “que foi tão boa para nós e com quem nos sentíamos tão felizes. Você não tinha este direito, Ellen”. A dor e o ressentimento tinham transformado completamente May, que agora vivia num estado de autopiedade, em lágrimas, num ambiente de unguentos e de loções devido à sua moléstia. Numa mesa, um belo móvel, um autêntico Sheraton, estavam todos os seus medicamentos, em desordem. Ela deixara cair um remédio na mesa e estragara a bonita superfície. Sua Bíblia ocupava o maior espaço na mesa, e um lenço não muito limpo marcava as páginas. A Srta. Ember dera um nó nas cortinas, para ter mais “ar”. A renda e a seda delicadas estavam sujas. A arrumadeira se recusava a “arrumar” os aposentos de May. “É obrigação daquela enfermeira.” Assim sendo, os quartos estavam empoeirados e tinham um cheiro de mofo e de decadência. May, que antigamente era tão exigente quanto à limpeza e à ordem, não ligava mais para nada. Chorava pela casa da Sra. Eccles e seu ressentimento por tudo crescia dia a dia. Ellen era a causa desse ressentimento. “Nunca imaginei que Ellen ficaria assim, tão mesquinha e egoísta, não pensando em ninguém a não ser em si mesma, sem um pensamento para a sua pobre tia”, era o que May muitas vezes dizia a si própria.
Ellen olhou para ela, preocupada, inclinando-se com sua blusa bonita de seda lilás e rendas.
— Suas dores melhoraram, titia?
“Como se você ligasse!”, pensou May. Em voz chorosa, disse:
— Não. Estão cada vez piores. É o calor; não o suporto. Em Wheatfield era agradável e fresco, até mesmo em julho. Nunca foi quente como aqui, e ainda esta poeira! É ruim para a minha artrite. Não consigo dormir, à noite, a maior parte das vezes. E agora mal posso andar.
— Logo iremos para a nossa casa de campo, em Long Island — disse Ellen, em tom súplice. — Quatro semanas, bem junto ao mar.
— Toda aquela água! Não, senhora! A água fará meu reumatismo piorar. Foi o que a senhora me disse, não foi, Srta. Ember? Nós vamos ficar aqui.
Ellen ficou consternada.
— Mas, titia, vamos fechar a casa! Os empregados irão conosco.
— Daremos conta, sozinhas, Sra. Porter — declarou a Srta. Ember, jogando a cabeça para trás. — Será mais sossegado, aqui, também. Bom para a Sra. Watson.
Ellen ficou desesperada.
— Falei com o Sr. Porter ontem à noite — continuou a Srta. Ember, triunfante. — Ele disse que poderíamos perfeitamente ficar aqui, com uma das empregadas e uma cozinheira provisória. Ele já arranjou tudo.
Por uma razão qualquer (tendo remorso imediatamente), Ellen sentiu-se imensamente aliviada e profundamente grata ao marido. A Srta. Ember sorriu, devido à sua vitória, sentindo desprezo por Ellen.
— Não precisa preocupar-se — acrescentou.
“Se eu fosse a Sra. Porter”, pensou a Srta. Burton, “despacharia as duas para um hotel e me esqueceria da existência delas.” Não sentia pena alguma. Sua afeição por Ellen cresceu. Estava preocupada com ela. Pobrezinha, tão bonita e agora mais pálida, tão magra, tão boa, tão meiga e procurando o bem de todos. Por que é que não pensava em si mesma, de vez em quando? Ainda na véspera, Ellen lhe dissera, respondendo a uma observação cínica de Annie Burton:
— Mas você sabe que temos que amar e confiar, Annie!
A Srta. Burton fitara-a por um momento, incrédula, e depois observara:
— Quem diz isso, senhora? Os padres? Que é que eles sabem a respeito das pessoas? — Depois dissera de si para si, com compaixão: “A pobrezinha fala tão tolamente sobre as pessoas, quando todo mundo sabe como são elas. Vai ter aborrecimentos, um destes dias, com todo esse ‘amor’”. Annie tivera uma longa conversa com Cuthbert sobre isso e o velho empregado concordara e sacudira a cabeça. “Precisamos cuidar dela”, dissera Annie. “Vou ficar aqui por muito tempo. O Sr. Porter me pediu que ficasse e é uma boa ideia. Aquela Srta. Ember! E aquela tia velha!”
Ellen e Annie voltaram para o quarto do bebê, onde a pajem começou a cuidar do menino. Ellen observava-a. Seus seios estavam cheios de leite. Disse de si para si: “Não sei por que não sinto o que as outras mulheres dizem sentir a respeito dos filhos. Por que motivo estou sempre com medo, com um pressentimento? Amo meu filho; seria capaz de morrer por ele. Mas, na realidade, não existe ninguém para mim, a não ser Jeremy. Ele está sempre em primeiro lugar, o tempo todo. Ser uma boa esposa parece-me muito mais importante”.
Enquanto amamentava o filho, Ellen pensava no marido e sorria. Annie refletiu, afetuosamente: “O rosto dela brilha como o sol. Nunca vi nada igual. É a sua bondade, isso é o que é. Espero que seus filhos apreciem isso mais tarde, mas com as crianças a gente nunca sabe! Umas pestes, quase sempre, quando crescem e cheiram o dinheiro dos pais. Gostaria de poder fazer com que ela tivesse um pouco de bom senso, coitadinha. As pessoas boas levam pontapés, neste mundo, e são odiadas e roubadas e quase sempre por aqueles que amam”.
A expressão do rosto de Ellen mudou. De repente ela começou a chorar. Annie aproximou-se e colocou o braço roliço à volta dos ombros da patroa.
— Ora, ora. Todas as mães jovens se sentem assim durante os primeiros meses. Melancolia após o parto. Não há motivo para ficar triste. Hoje é a primeira vez que a senhora vai jantar lá embaixo com o Sr. Porter. Queremos ficar bonitas, não queremos?
Ellen tentou rir, depois sentiu-se de novo deprimida.
— É que... Tenho medo, não sei de quê, mas tenho medo pelo Sr. Porter e, de certo modo, por mim, também.
— Não se preocupe com o Sr. Porter — disse Annie, em tom enérgico. — Por falar nisso, não gosto de sua criada particular, aquela Clarisse.
— Por que não? — perguntou Ellen, admirada.
Mas Annie era discreta. Não queria contar que, todos os dias, Clarisse tinha uma conversa abafada, acompanhada de risinhos, com a Sra. Wilder, pessoa que Annie desprezava. Era sobre Ellen; embora as duas falassem em francês, Annie sabia do que falavam. O rosto de Annie tornou-se tenso e ela apertou o ombro de Ellen, protetoramente.
— Oh, não sei — respondeu. — Acho que nós duas não nascemos para ser amigas. Seja como for, se eu fosse a senhora, não confiaria muito em Clarisse. Não fale com ela com tanta doçura e bondade. Não converse sobre o que a senhora pensa e sente o tempo todo; não confie nela.
Ellen lançou a Annie um sorriso indulgente:
— Oh, Annie, Annie. Como você é desiludida! Gosto muito de Clarisse.
Annie sentiu-se impotente. Como é que se pode prevenir as pessoas boas — são tão raras! — de que confiar é prejudicial a elas mesmas, uma coisa perigosamente destruidora, às vezes fatal? Se ouvissem (e raramente ouviam), então poderiam mudar e seriam tão más quanto a maioria da humanidade, e de certo modo o mundo ficaria mais pobre depois que essas pessoas adquirissem conhecimento e perdessem a inocência.
“Talvez Deus as recompense um dia, mas duvido”, pensou Annie. Ela era agnóstica, o que às vezes escandalizava Ellen, como também sua falta de idealismo. O rosto redondo e rosado de Annie, com o petulante nariz arrebitado, as pestanas e sobrancelhas douradas, o olhar franco, mudava quando Ellen falava da “nobreza inata da humanidade”. A expressão da moça se tornava distante, ela parecia mais velha e sua consternação por Ellen e sua incredulidade aumentavam. Agora ela conhecia a história de Ellen, contada por Cuthbert, Clarisse e pela Srta. Ember. Parecia impossível que uma pessoa que suportara tanta coisa com tão afetuosa candura pudesse ser tão indefesa, tão vulnerável e incapaz de tirar conclusões tristes e óbvias. Havia uma certa estupidez na inocência, e Annie às vezes desconfiava que era isso que os outros achavam ridículo.
“Graças a Deus ela tem um marido que não é tolo”, pensava Annie. “Mas e se ele vier a faltar? Se houver um Deus misericordioso, e não acredito que haja, Ele fará com que ela morra antes do marido. Ela não sabe defender-se. Não sabe se cuidar.” Certa vez Annie pensou, consternada, que todas as pessoas “vigiavam” as outras, que não havia confiança nem amor em parte alguma, que a infelicidade, o desespero e o ódio dominariam o mundo e nada haveria, além da morte. Com seu jeito suave, de uma pessoa irrepreensível, Ellen confiara à pajem suas dúvidas sobre aquela maneira vigorosa de encarar a vida, embora ela fosse impenetrável ao bom senso de Annie. Nenhuma das duas compreendia que devia haver um equilíbrio entre amor e confiança — e realismo. O exagero destruía o mundo tão eficazmente quanto a peste. Ellen teria que aprender que Cristo era o Deus da cólera, assim como o Deus do amor. Mas um realista total privava o mundo de fantasia, de beleza, de mistério e da iminência de Deus. Annie ainda não sabia disso. Mesmo assim, era mais sábia do que Ellen e tinha mais defesa contra a humanidade.
Kitty Wilder fingiu ter ficado impressionada com a “honra” de ela e seu marido terem sido escolhidos para padrinhos do menino.
— Oh, como ele é adorável! — cacarejava, debruçada sobre o berço. — Como é bonito, Ellen, assim como você! Imagine termos sido escolhidos para padrinhos deste amorzinho! Você sabe que não gosto muito de crianças, mas estou louca por esta aqui! — Ao dizer isso sentia, no íntimo, ódio pelo bebê. Como era feio, parecido com a mãe! Não tinha a beleza de Jeremy, era o que pensava Kitty. E que nome horrível Ellen escolhera: Christian.
Para retribuir a ajuda forçada de Kitty durante o parto, Ellen e Jeremy lhe tinham dado um alfinete de brilhantes, em sinal de gratidão. Os olhos de Kitty tinham brilhado, pois, além de rica, era gananciosa.
— Foi Ellen que o escolheu — dissera Jeremy. Kitty não acreditara. Era de muito bom gosto, além de caro. Ela beijara Ellen, exultante. Olhara para Jeremy com uma adoração quase abjeta e ele sorrira intimamente.
Duas semanas em Long Island foram uma bênção para Ellen, embora ela só visse o marido nos fins de semana, pois a viagem de trem era longa. Passeava pelo jardim e pela praia, ajudava o jardineiro e recuperava sua vitalidade. Dormia bem, todas as noites, esperando que chegasse o fim da semana. Seus cabelos readquiriram o brilho antigo, os olhos azuis tinham uma expressão radiante e luminosa. Corria como uma criança, jogava tênis com os vizinhos e acariciava o filho. Observando-a e ouvindo seu riso franco e melodioso, Annie se sentia velha e judiada pela vida, apesar de ser muito jovem. Às vezes as duas brincavam de jogar bola, gritando, rindo, e Annie ficava mais corada. Não conseguia, entretanto, livrar-se de um pressentimento de desastre.
Os vizinhos ficaram amigos de Ellen, com uma certa indulgência, mas era uma indulgência afetuosa que inevitavelmente se transformava em ironia com uns laivos de descrença sobre a ingenuidade da moça. Vendo isso, Annie certa vez dissera:
— Sra. Porter, não seja tão franca, tão boa e nem tão afetuosa com essas pessoas. Elas não a compreendem. Acham que a senhora é um pouco... tola.
— Não, elas são apenas muito boas e muito agradáveis — replicara Ellen, sempre indulgente. — Por que haveria eu de desconfiar e pensar coisas desagradáveis a respeito delas?
Annie encolhera os ombros, dizendo:
— As pessoas são todas iguais. Esses seus vizinhos não são melhores do que a Sra. Eccles, de quem me falou, ou a Srta. Ember, ou até mesmo os pais do Sr. Porter. Eu sei, pode crer-me!
Agnes e Edgar Porter, assim como Walter Porter, tinham comparecido ao batizado na Igreja Episcopal. Ellen procurara ser agradável aos pais de Jeremy, sentindo-se intimidada e desajeitada, com uma profunda sensação de inferioridade, pois eles a trataram com superioridade, tendo Agnes observado que a criança em nada se parecia com o pai. Ellen se sentira de certo modo culpada e Jeremy replicara:
— Ele é uma beleza, como a mãe, e não um monstro como eu.
A reunião fora constrangedora, o que fez Ellen sofrer. Ficou contente quando os convidados partiram. Disse a Jeremy:
— Acho que o Sr. e a Sra. Porter não gostam de mim, nem mesmo agora. Talvez tenham razão. Não sou realmente nada, você sabe.
— Você é tudo — replicou Jeremy, com certa impaciência. — Pelo menos, para mim. Agora sorria, como o anjo tolo que você é.
Seu medo por Ellen aumentava. Não estava sozinho nisso. Tinha a companhia de seu tio, Walter Porter, de Annie Burton e de Cuthbert. Todos eles cercavam Ellen de proteção e esperavam que o tempo a tornasse menos confiante, mais cautelosa, menos ardente em sua dedicação a qualquer pessoa que demonstrasse aceitá-la e fosse amável com ela. Para a esposa de Jeremy, o mundo era agora um lugar de alegria, de delícia e de amor, cheio de amigos, de honra e de afeição espontânea.
Na sua felicidade, começava a deixar de ter medo do filho. Balançava-o, quando estava no terraço. Olhava o mar, admirando-se de suas cores cambiantes.
Às vezes, ao pôr-do-sol, a água parecia dourada sob uma luz dourada, tornando-se branca sob um céu branco. Até mesmo as tempestades a extasiavam. Desejava chorar de alegria. Cantava e sua voz maravilhosa ecoava no silêncio grande do entardecer. Annie a ouvia e ficava com lágrimas nos olhos. “Deus do céu — se é que há um Deus —, não deixeis que ela saiba. Nunca deixeis que ela saiba o que o mundo realmente é.”
Sim, pois Ellen quase se esquecera de sua infância e mocidade infelizes. Estava se esquecendo até da Sra. Eccles e de Wheatfield. Se pensava na Sra. Eccles, era com piedade, pois achava que aquela senhora jamais conhecera a alegria. Procurava convencer-se de que, à sua moda, a Sra. Eccles fora boa. Era esse o seu jeito de chegar a um acordo com os anos em que fora perseguida, obrigada a trabalhar e sentira fome e desespero: se as pessoas “compreendessem” realmente, amariam umas às outras e teriam confiança umas nas outras. Era triste que as circunstâncias as forçassem a serem cautelosas, maliciosas, gananciosas e até mesmo cruéis.
Ellen, que nunca tivera infância, tornou-se uma criança. May queixou-se à Srta. Ember:
— Acho que Ellen perdeu o juízo. Acho, mesmo.
Capítulo 16
— Então, que tal ser um deputado? — foi o que Walter Porter perguntou ao sobrinho.
— Você me pergunta isso sempre que me encontra, tio Walter. Espera uma resposta diferente todas as vezes?
— Claro — respondeu Walter. — Quem é que pode suportar Washington? Cidade terrível. Sepulcro caiado com ossos
podres, fedendo a mentirosos, ladrões, charlatões e aos eternamente exigentes. Ellen ainda não gosta de lá?
— Ainda. Nunca se queixa, mas sei disso, embora ela finja estar encantada com nossa casa de Georgetown. Acho que é esse vaivém entre Nova York e Washington que a aborrece. Como você sabe, ela nunca teve um lar, até casar-se comigo, e, portanto, Nova York é sua primeira casa, é o seu lar, e Washington é uma residência temporária. Parece, também, que ela tem medo de alguma coisa, lá.
— Não é de admirar — replicou Walter Porter. — Também eu morro de medo, sempre que vou para lá. Ellen é muito sensível; não sabe o que está acontecendo, mas sente alguma coisa, intuitivamente, creio que devido à observação e a um conhecimento objetivo. Ellen sente a presença do mal, subjetivamente, e isso a amedronta, como amedrontaria qualquer outro inocente. Ela está se dando melhor com seus colegas, Jerry, e com as esposas deles?
Jeremy hesitou.
— Pois bem, sim e não. Os homens a admiram, mas divertem-se com sua falta de sofisticação. A maioria é amável, com ela, como se é gentil com uma criança bonita e natural. Mas... as esposas! Quando não estão fazendo pouco dela, estão ridicularizando-a disfarçadamente, por inveja ou malevolência, ou mostrando-se condescendentes. A pobre menina ainda não sabe por que fazem isso, de modo que se retrai, ou se esconde, ou não diz nada. Nunca vi uma pessoa com menos auto-estima e isso me preocupa cada vez mais. Tenho feito o possível e tenho esperança, pois sob essa doçura e essa verdadeira magnanimidade há um temperamento de aço. Percebi isso algumas vezes. Mas o diabo é que depois ela se mostra tão malditamente arrependida que faz papel de tola, procurando conciliar as coisas.
— A avó de Ellen, Amy Widdimer, era exatamente assim, de modo que você não pode atribuir sua timidez à infância. São traços aristocráticos, que infelizmente faltam às mulheres americanas, principalmente às feministas e às “novas mulheres”. Somos um país plebeu. Ellen é uma dama, e que é que uma dama pode fazer lá em Washington?
Jeremy riu. Os dois homens estavam sentados no escritório de Jeremy em Nova York, naquela sombria tarde de outono. O céu tinha um feio tom de açafrão, as ruas eram fendas de sépia, e pairava sobre tudo uma monótona cor ocre. O ruído do trânsito era sombrio e surdo, sem alegria (como a crise que se apoderara da América naquele ano), às vezes chegando a um clamor frenético, tornando-se depois novamente monótono, como que resignado. Jeremy achava o ambiente deprimente, mais ainda do que o de Washington.
— Fico imaginando por que motivo o povo insiste em mandar tais palhaços para o Congresso e para o Senado e até mesmo para a Casa Branca. Quando não são ingênuos e estúpidos, ou histéricos, são canalhas, corruptos e viciosos. Excetuando os presentes, é claro. — Sorriu e continuou: — Eles me deixam profundamente entediado. — Agora Jeremy não sorria. — Principalmente depois que descobri o que está acontecendo, nacional e internacionalmente, entre os “homens quietos”.— Fez uma pausa e prosseguiu: —Não posso compreender o público em geral, que é relativamente inteligente, decente e trabalhador, com uma noção de honra e de patriotismo.
— É porque os canalhas e os tolos são bons atores; fingem corresponder ao que seus eleitores querem e exigem. Depois, pelas costas, fazem aquilo, seja o que for, que seus corações negros e tolos desejam que eles façam. Fico imaginando se jamais teremos novamente o tipo de governo que tivemos logo depois da revolução. Duvido.
— Eu também — concordou Jeremy, tomando um gole grande de uísque com soda.
— Está arrependido? — perguntou Walter.
Jeremy hesitou.
— Pois bem, não. Sei perfeitamente que nada posso fazer sobre o que está acontecendo lá; agora sei que, se eu abrisse a boca e gritasse isso no Capitólio, seria expulso de Washington, ou assassinado. Ou, pior ainda, ririam de mim. Tenho tentado insinuar isso a certos correspondentes de jornais e eles apenas me encaram com ar incrédulo. Pois bem, não os censuro. Nenhum político é sincero com os jornalistas. É medroso ou prudente, ou apenas mentiroso. Não, não podemos culpar os jornalistas. Mas grande número de jornais se divertem satirizando muitos políticos e eu gostaria de dizer aos redatores que eles devem aproveitar ao máximo a liberdade que têm agora. Não levará muito tempo para que eles sejam controlados, ameaçados e forçados a submeter-se aos políticos e ao governo.
Walter refletiu, depois sacudiu a cabeça.
— Estou contando com os redatores para que insistam na liberdade de imprensa, uma de nossas mais importantes liberdades, e para que combatam cada canalha que a ameaçar em nome da “virtude pública”, ou da “segurança nacional”.
— Os redatores são homens, e os homens são de carne e osso, têm famílias e precisam comer, ter casa e roupas — observou Jeremy. — Sua própria condição humana os torna vulneráveis aos tolos pedantes e aos malfeitores. Além do mais, muitas das hipotecas dos jornais pertencem a políticos e a seus amigos poderosos.
— Precisamos de alguns heróis — disse Walter. Os dois riram cinicamente. Dali a um momento, Walter continuou: — Frank nunca o perdoou, Jerry, por tê-lo derrotado duas vezes em suas pretensões ao Congresso. Para ser franco, acho que ele ficaria delirante de alegria se fosse para Washington. Foi feito para o Congresso, nasceu para isso. Lá o amariam e ele também adoraria estar lá. Claro que alguns o chamariam de “radical perigoso” e outros o chamariam de “tolo”, e acho que ambas as designações seriam corretas. — O rosto quadrado e viril de Walter adquiriu uma expressão amarga. — Naturalmente, ele é um histérico, mas toda a maldita cidade está histérica, conduzida pelo próprio Teddy.
— E toda a nação está histérica e aterrorizada, com esta crise, o que é compreensível. Quantos de nós sabemos o que foi que causou a crise?
— Muitos. Mas quem acreditaria em nós? Os homens perigosos sabem disso e ririam de nós, e saberiam como somos realmente impotentes. Não temos o dinheiro, não temos a importância, não temos o poder de ser ouvidos pelo país. Quando falamos aqui e acolá, ou escrevemos sobre isso, somos chamados de loucos, pois nossas vozes são fracas. Não é que o povo seja apático. É que apenas não acredita que haja um certo destino terrível planejado para ele; o povo não acredita em tanta maldade. Ainda somos um país confiante e simples; os políticos e aqueles que controlam os políticos pretendem nos conservar assim o maior tempo possível. Que diria o povo, quando a verdadeira causa da crise que o está aterrorizando e matando de fome lhe fosse explicada, se ouvisse realmente e acreditasse nela?
— Haveria outra revolução — disse Jeremy. — Mas os malfeitores não se preocupam com isso. O povo jamais acreditará, até ser tarde demais.
— Pois bem, enquanto conseguirmos conservar o governo de Washington fraco e tivermos nos Estados oponentes um governo local forte, teremos um governo descentralizado e, portanto, uma medida de nossa liberdade — observou Walter em tom desanimado. — Mas que Deus nos ajude se Washington se tornar grande e poderoso, com um enxame de burocratas importunos e arrogantes que governarão por decretos e não pela lei. Então chegará o homem a cavalo, seguido por hienas e corvos burocráticos, e será o fim da América, como foi o fim de Atenas e de Roma, e só Deus sabe de quantas outras civilizações agora perdidas na história.
— Washington conseguiu fazer com que fossem aprovadas suas leis antitruste, que destruirão o progresso e a eficiência produtivos, a fim de “proteger” as indústrias menores, atrasadas, em nome também da “competição promotora” que nossos políticos detestam, sendo eles próprios uns fracotes. Podemos gritar aos céus que a proteção do governo aos ineficientes e aos fracos destruirá os fortes, que são os construtores de uma nação, e isso de nada adiantará, pois nossos inimigos sabem que a proteção aos inferiores acabará eliminando os fortes e os ousados e abrindo caminho para uma escravidão total e incontestada de nosso povo. Assim, a “elite” usa homens como seu filho Frank, tio Walter, histéricos e emotivos, que vociferam, informando o público de que as medidas punitivas usadas contra os fortes são feitas em nome da “justiça” e do humanitarismo. — Jeremy acrescentou, com certo pesar: — Não que eu confie naquilo a que chamamos o “truste do petróleo”. Tive o prazer, se é que me posso exprimir assim, de conhecer John L. Bellows numa reunião do Comitê para Estudos Estrangeiros.
Walter empertigou-se, atento, os cabelos brancos brilhando devido aos reflexos rubros da lareira.
— Parece, então, que eles têm convicção de que você está com eles.
— Não sei — respondeu Jeremy, de sobrolho carregado. — Talvez apenas gostem de me ter com eles, para vigiar-me, embora eu tenha sido muito circunspecto, como você sabe. Sujeitos muito fortes. Eu já sabia de tudo a respeito deles, mas só saber de nada adianta. Precisamos estar realmente na presença desses homens e ouvi-los quando falam confidencialmente, para que tenhamos a noção global do que estão pretendendo fazer. Frios, macios como manteiga e mortais como cianureto.
— Na última reunião falaram da guerra iminente?
— Acho que anteciparam a data. Duvido que seja 1917,
19 ou 20. Acho que é iminente, talvez nos próximos anos e não mais tarde do que 1915. Sua data para a Rússia também foi antecipada. Eles estão muito confiantes, agora, em instigar uma revolução comunista na Rússia, praticamente sem oposição. Estão demonstrando grande preocupação, porque a Rússia se está tornando cada vez mais próspera, o czar abdicou muito de sua monarquia absoluta e a Duma está ganhando influência e insistindo em mais e mais liberdade para o povo russo. Se deixarmos a Rússia em paz durante muito tempo, ela se tornará uma monarquia constitucional, como a Inglaterra; os planos deles, então, longamente estudados, para fazer com que o comunismo (ou seu irmão, o socialismo) invada todas as nações, irão por água abaixo. Há frequentes encontros com banqueiros, inclusive o clã de Bellows, e com outros grandes financistas, industriais, “intelectuais” e políticos importantes do mundo inteiro.
Walter fechou os olhos com ar cansado, dizendo:
— Sim, também ouvi boatos, mas não tão definidos como você me disse. Repito que, graças a Deus, não viverei o suficiente para assistir à destruição de meu país. Tenho pena de homens de sua idade, Jerry, assim como de suas famílias. Não terão para onde se virar; não terão esperança, nenhum novo continente para onde fugir e fundar uma nova nação. Nossas últimas fronteiras estão desaparecendo, literal e figurativamente. Para onde irão os homens, daqui a quarenta ou cinquenta anos, por exemplo, se desejarem ser livres? A opressão religiosa já era bastante má na velha Europa, mas eles tinham uma terra jovem para onde fugir e iniciar uma nova vida. Mas a opressão vindoura será universal e não haverá um lugar onde um homem possa esconder-se e respirar livremente.
Jeremy notou o ar de profunda depressão no rosto do tio e soube que havia uma razão justa para isso. Mas procurou mostrar-se alegre.
— Bem, não sejamos pessimistas demais. Lembre-se: não estamos sós. Haverá milhões de homens nascendo agora e por nascer no futuro, que lutarão pelo direito de viver em liberdade e em paz.
— Está certo — replicou Walter, pesadamente. — Mas primeiro haverá o caos, as guerras, a tirania e a morte! Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Por que é que os homens esperam pela ruína total e pela destruição, antes de agir?
— Por que não pergunta a Deus? — replicou Jeremy.
— Ele tem visto isso acontecer inúmeras vezes durante milênios. Ele tem seus anjos; por que estes não estão agora sussurrando para a humanidade?
— Talvez estejam, talvez estejam — observou Walter.
— Quem pode saber? Sim, estou contente por ser velho. Pode ser que eu veja o começo do fim, mas não estarei aqui quando ele chegar.
— E não verá homens como seu filho Francis terem enorme poder sobre seus abjetos concidadãos. Isso deveria alegrá-lo, tio Walter.
Walter fez uma careta.
— Eu nunca deveria ter deixado que ele fosse passar um ano na Inglaterra, para ouvir os fabianos1 (1 Membros da Fabian Society, organização socialista fundada em 1884 na Inglaterra. -N. da T.); ele voltou para cá vibrando de entusiasmo e com um ódio selvagem e vingativo pelos homens viris, homens que têm patriotismo, força e honra. Não que eu o tivesse mandado para os fabianos, é claro. Francis andou em companhia deles. No mundo inteiro, estão sempre recrutando pessoas como meu filho. Apesar disso, Frank não teria ficado tão atraído por eles, se a moléstia não estivesse esperando por um catalisador para explodir em sua mente. Ele nasceu assim. Nasceu fanático, e você sabe o que Talleyrand diz a respeito dos fanáticos.
— Creio que milhões de pais olham mais tarde para os filhos adultos e ficam imaginando de que maneira chegaram a gerar tais filhos e o que teriam feito para merecê-los.
— Espero que isso não aconteça com você, Jeremy, a respeito de seus filhos. Como vão Christian e Gabrielle? Ellen se recuperou do nascimento da menina?
O rosto de Jeremy se tornou levemente sombrio.
— Sim, mas não poderá ter mais filhos. Parece que sua pobreza na infância, a má nutrição e o trabalho pesado tiveram consequências... Ela é bastante sadia, é claro, mas tem uma malformação dos ossos pélvicos, conforme dizem os médicos. Como você sabe, desta vez ela quase morreu. Levando tudo em consideração, Ellen, eu e o que nos espera, estou contente por saber que a família não aumentará.
Uma chuva de outono começou a cair e Walter levantou-se.
— Nós, americanos, estamos preocupados demais com um doce conforto animal, como os ingleses. Todos queremos que nos deixem em paz para sugar as tetas doces da mamãe e para que ela nos cante cantigas de ninar e nos conte histórias de fadas sobre o futuro maravilhoso que nos será dado... por nossos queridos amigos e pelo nosso governo. Vejo esta atitude aproximar-se de mansinho com pés mortais, em toda parte, até mesmo na robusta Alemanha. A lareira quente está se tornando cada vez mais importante para nós, mais do que os homens heróicos que lutaram para construir uma nação para nós e que nos deram nossa liberdade. Crianças! Onde estão nossos homens, agora?
— Tenho uma leve esperança de que ainda estejam aqui. É a única esperança que nos resta. Vou criar meus filhos ensinando-os a amar a pátria. — Jeremy sorriu, embora sem sentimentalismo paterno, como se a lembrança dos filhos não apenas lhe agradasse mas também o divertisse... — Christian só tem três anos, mas já está gritando o nome de Patrick Henry, que lhe ensinei, e a dicção é muito boa também. Quanto a Gabrielle, estou lhe ensinando algumas palavras; ela só tem um ano e já se está mostrando muito inteligente. É uma pena que seja tão feia, parecida comigo.
— Pelo contrário, acho que tem uma aparência muito interessante — replicou Walter, com o afeto de um avô e não apenas de um tio-avô. — Cabelos pretos e encaracolados, olhos negros e brilhantes. Sim, muito interessante e provocante. Cheia de malícia, até mesmo para sua idade, e muito sabida. Você tem dois filhos bonitos, Jeremy. Deus permita que tenham uma vida de... segurança.
— Eis uma palavra que detesto, tio Walter. “Segurança.” O mundo nunca foi um lugar seguro e nunca o será. Não, não quero que meus filhos tenham “segurança”. Quero que sejam fortes, que tenham fibra moral, que sejam capazes de lutar. Ellen me disse uma ou duas vezes que sou muito rigoroso e exijo demais deles. Provavelmente é porque se lembra de sua infância dura. Não adianta eu dizer-lhe que Christian às vezes fica emburrado e é desobediente. Quando eu o castigo, Ellen quase chora, embora não interfira. Eis uma coisa que não admi-to, que ela discuta a minha autoridade e a minha maneira de educar as crianças. Creio que Ellen esqueceu que as crianças são naturalmente más, que toda a raça humana é má, como sempre foi. Graças a Deus, a pajem, Annie Burton, ainda está conosco. A moça tem um raro bom senso e uma mão firme com as crianças. Fico perplexo quando comparo as duas, pois
Annie também teve uma vida dura em criança, quase tanto quanto Ellen. Mas isso tornou Annie forte, desiludida e realista, ao passo que Ellen é uma pequena Madame Rousseau, chegando certa vez a dizer que o homem é naturalmente bom e que a “sociedade” é que o torna distorcido. Tio Walter, creio que seu filho Frank é culpado dessas ideias tolas.
— Talvez — concordou Walter, com ar sombrio. — Afinal de contas, ele foi a maior influência na vida de Ellen durante os três anos que ela passou em casa de minha cunhada, em Wheatfield. — Walter suspirou. — Francis está se tornando cada vez mais dogmático... Meu único filho. Parece uma solteirona pedante, e sua intolerância está aumentando, assim como suas ideias nauseantes sobre uma coisa amorfa que ele chama de “massas”. Quando discursa, fica com um ar que me faz desconfiar que esteja pensando em você. Para Francis, você encarna um mundo que ele ao mesmo tempo teme e detesta, do qual gostaria de vingar-se, um mundo forte e justo que não dá nem aceita abrigo de... todos. Ele está vociferando cada vez mais sobre “compaixão”, sentimento que ele na realidade não tem. Mas a palavra tem um som bonito e puro. Deus do céu, por que é que tive um filho assim?
Jeremy riu.
— Talvez ele se pareça com algum tetravô. Existe uma coisa que se chama hereditariedade, você sabe, embora os “puros de coração” (gosto dessa designação!) estejam começando a negar isso. Agora estão falando sobre “ambiente”. Puro Karl Marx. Talvez Marx não goste de sua hereditariedade e, se gostar, então talvez seus seguidores barulhentos o imitem. — Jeremy pensou de novo na esposa e desviou o olhar. Continuou: — Tenho tentado dizer a Ellen que seu grande amor e sua generosidade levam as pessoas a explorá-la e a ridicularizá-la, pois no íntimo elas sabem exatamente o que são e isso faz com que se sintam culpadas. Pelo fato de Ellen fazer com que se sintam assim, ficam furiosas, ou coisa pior. Ela... corrompe-as. Por que é que ninguém jamais escreveu que algumas das maiores corrupções são causadas por pessoas ternas e desprendidas? Devido à sua nobreza, Ellen faz vir à tona o que há de pior nelas. Faz com que se tornem mais maldosas do que habitualmente, mais cruéis, e a odeiem mais por causa disso. Sim, tentei dizer-lhe isso, mas ela não entende.
— A avó dela também era assim — disse Walter, sombriamente. — Talvez os antigos rapazes que usavam a tortura contra os santos, a roda, a corda e o fogo, tivessem alguma justificativa. Não ria. O avô de Ellen disse a Amy: “Diabo, menina, você me faz ter vontade de dar-lhe uma surra!” Pelo menos eu o ouvi dizer isso.
— De vez em quando sinto a mesma coisa a respeito de Ellen — declarou Jeremy, estalando a língua, alegremente. — Às vezes é duro para um homem ter uma mulher como ela.
Walter fitou-o com ar astuto. Pensou: “Muitos maridos são empurrados para mulheres mais mundanas e petulantes, devido à virtude de suas esposas. É um alívio para os coitados”. Lembrou-se de Kitty Wilder e franziu o sobrolho. Pois bem, aquilo não era da sua conta.
— Você ainda não conhece meu sócio, Charles Godfrey, embora ele já esteja comigo há um ano — disse Jeremy. — Ele me substitui, quando vou para Washington. Foi meu colega em Harvard. — Sorriu largamente e seus dentes brancos brilharam na semi-obscuridade. — Acho que está apaixonado por Ellen, e isso é bom. Ele é um dos seus testamenteiros. — Jeremy tocou a campainha sobre a escrivaninha e mandou chamar o amigo. Walter esperou, interessado. Charles Godfrey chegou quase imediatamente e Walter ficou logo impressionado com ele.
O rapaz era mais baixo do que Jeremy, mas de aparência tão firme, e tão musculoso e tão viril quanto ele, movendo-se com uma autoridade calma e segura. Tinha um rosto quadrado, grave, embora houvesse rugas de bom humor à volta de sua boca larga. Todos os traços exprimiam força e uma grande inteligência. Tinha um nariz forte, curto; os olhos cinzentos eram ao mesmo tempo vivos e pensativos. “É um homem”, pensou Walter, e não pôde lembrar-se de maior elogio. “É um homem, assim como Jeremy é um homem, e Deus sabe como precisamos desses homens nos dias que virão! Por que diabo não pude ter um filho como um desses dois?”
— Já ouvi falar do senhor, Sr. Walter. Por Jeremy — disse Charles, apertando a mão do velho. Sua voz tinha uma ressonância de autoridade, embora fosse agradavelmente respeitosa, e a admiração de Walter aumentou. — Creio que conheceu ligeiramente meu pai, também Charles, em Boston?
— Oh, conheço — disse Walter, com prazer. Seu rosto cansado se animou. — O velho Chuck. Um demônio no campus. E fora do campus, também. Com as garotas. Muitas vezes fiquei imaginando como é que ele se firmou com uma só.
— Mamãe é uma mulher muito dominadora — replicou Charles. — O senhor a conhece?
— Conheço. Muito bonita. Uma bela mulher, como costumávamos dizer. Geraldine Aspenwall. Sim, lembro-me de ter dançado com ela. Creio que era ela quem me guiava, em vez de eu guiá-la.
— Ela não guia papai — replicou Charles. Sorriu com ar divertido e seu rosto se tornou agradável e até mesmo encantador. — Embora ela seja feminista. Que Deus ajude nossos pobres congressistas se mamãe e senhoras iguais a ela adquirirem o direito do voto! Ela domina até o nosso pastor, o pobre Padre Malone, embora as irmãs sejam menos tímidas. Mamãe gostaria de reescrever a liturgia. Ultrapassada, diz ela. Mamãe é formidável. Creio que poderia fazer o papa correr, se ela se dispusesse a isso e pudesse entrar no Vaticano.
Os três homens ficaram sentados ao calor da lareira, confortavelmente, tomando uísque, fumando e ouvindo com calmo contentamento o ruído do trânsito lá embaixo e o crepitar do fogo ali na sala.
“Talvez um suficiente número de homens iguais a esses dois, agora e no futuro, possa salvar minha pátria”, pensou Walter. “Talvez.”
Depois, estremeceu. Talvez isso não bastasse, não bastasse. Teve um triste pressentimento.
Capítulo 17
De manhã cedo, quando um sol fraco lançou seus raios sobre os prédios da rua, Ellen subiu para ver a tia, antes de sair com Annie Burton para o passeio diário com as crianças.
— Pensei que você viesse mais cedo — queixou-se May.
— Desculpe-me, mas preciso repousar depois do almoço, titia — disse Ellen. — Você sabe disso. Mas o médico afirma que logo recuperarei completamente as forças. Posso trazer as crianças aqui amanhã? Faz uma semana que você não as vê.
May ergueu as mãos deformadas e sacudiu a cabeça.
— Não, por favor, Ellen. Elas me dão dor de cabeça, com todos aqueles gritos e as correrias de Christian. São muito irrequietas.
— Está certo — concordou Ellen, sorrindo. — Ele não pode fazer isso quando Jeremy está em casa. É um menino muito ativo; o tempo tem estado tão ruim que não pudemos sair nos dois últimos dias, e ele se sente sufocado no quarto de brinquedos.
— A menina é igual, embora só tenha um ano de idade — choramingou May. — No meu tempo, as crianças... deviam ser vistas e não ouvidas e, assim mesmo, pouco vistas. Você é indulgente demais, Ellen.
Como Jeremy sempre lhe dizia a mesma coisa, censurando-a, Ellen não replicou. Depois mudou de assunto, procurando mostrar-se animada.
— Você está com muito boa aparência hoje, titia. Dormiu bem? Gostou do almoço? Cuthbert encomendou-o especialmente para você.
— Pois bem, diga-lhe para não fazer isso de novo — replicou May, relanceando o olhar para a Srta. Ember, que estava ali perto, os braços pesados cruzados sobre o peito farto, como que em ar de desafio. — A Srta. Ember também não gostou da comida. A galinha ensopada tinha passado do ponto, a couve-flor tinha um molho horrível, de queijo, ou coisa parecida, e as batatas... au gratin, é o que dizem?... tinham um gosto esquisito. A sopa tinha cogumelos, e você sabe que não gosto de cogumelos. Você devia ter visto, Ellen, mas não tem tempo para ninguém, a não ser para você mesma, e Deus sabe que não a eduquei desse jeito! Puseram vinho na sopa, uma bebida forte; o peixe estava frito demais, os pãezinhos duros, e não gosto de manteiga sem sal. O café estava muito forte, a salada tinha um tempero horrível. A empregada disse que era italiano... pagão, é o que digo. Graças a Deus, nunca tenho muito apetite.
“Mas comeu tudo com gosto, sua cadela velha”, pensou a Srta. Ember. Disse:
— Concordo com a Sra. Watson, Sra. Porter. É revoltante. Talvez a senhora devesse fiscalizar Cuthbert, assim como a sua comida horrível. Ou deixar que a cozinheira fizesse a comida. Uma boa comida americana. É disso que gostamos, não é, Sra. Watson?
— Sim, de comida simples. É do que mais gosto, com minha falta de apetite. Procure pensar um pouco nos outros de vez em quando, Ellen. Você está ficando cada vez mais egoísta!
Ellen ficou triste e deprimida. Desculpou-se:
— Vou falar com Cuthbert, titia. Que é que deseja para o jantar? Temos convidados; vai haver perdiz, e sei que você não gosta disso. Gostaria de uma sopa grossa de feijão, ou de bacalhau com creme?
A Srta. Ember ficou aborrecida. Uma coisa era criticar os excelentes cardápios de Cuthbert, embora elas os apreciassem secretamente, e outra era ter que comer “comida simples”, da qual a enfermeira aprendera a não gostar. May disse, de olhos baixos:
— Está certo, Ellen, qualquer coisa serve, exceto aquelas novidades. Talvez uma asa de perdiz? Detesto dar tanto trabalho, e sei que você fica impaciente, com tantos amigos elegantes e precisando ocupar-se comigo. Sei que sou um fardo. — Lançou à Srta. Ember outro olhar enigmático e Ellen percebeu-o, constrangida. Sentiu um ar de conspiração na saleta empoeirada e em desordem.
— Você sabe que não é um fardo, titia — disse Ellen. — Nunca será um fardo.
“Muito bem. Espero que continue pensando assim”, refletiu a enfermeira.
— Acho que sua tia tem alguma coisa para lhe dizer — observou ela.
May hesitou. Dobrou a ponta do xale no joelho e olhou para baixo com uma expressão de mártir, que fez com que Ellen tivesse uma sensação de culpa.
— Tenho escrito à Sra. Eccles — disse May, olhando de esguelha para a sobrinha. Havia uma expressão de alegria triunfante em seus olhos de pálpebras avermelhadas.
— Sim? — disse Ellen, cada vez mais constrangida. — Sei que lhe escreve, querida.
— Tenho-lhe escrito sobre o quanto me sinto infeliz.
— Oh, não! Como pôde fazer isso, titia? — perguntou Ellen, consternada.
— Então, ela respondeu que está disposta a me receber de novo — continuou May, como se não tivesse ouvido o que a sobrinha dissera.
Os olhos azuis de Ellen se alargaram, com expressão incrédula.
— Recebê-la de novo? Receber você, que mal pode andar até o banheiro? Recebê-la de novo? — Ellen pôs a mão na cabeça, atordoada.
— Não quero dizer que seja para trabalhar para ela — disse May, não podendo encontrar o olhar confuso e consternado de Ellen. — Pois bem, escrevi-lhe como sinto falta de nossos quartinhos na casa dela, e de Wheatfield; que lembro do quanto era boa para nós (realmente boa!); que desejo viver em paz e em calma, longe das crianças e do barulho que elas e todos os seus amigos fazem, Ellen; e do seu piano, e de sua cantoria... Pois bem, ela compreendeu. Detesto Nova York e sempre a detestei. Você e eu, Ellen, não temos o direito de estar aqui; no fundo do coração você sabe disso. Sim, sabe!
Então olhava para Ellen com ar acusador e de franca hostilidade.
— A culpa é toda sua, Ellen, e um dia Deus a castigará por sua falta de coração... de consideração para com os outros. Tudo para você... Gananciosa, gananciosa, gananciosa. Seus ares, como se fosse uma dama de nascimento. Eu a avisei desde o princípio; um dia você reconhecerá isso, de joelhos, quando for tarde demais. Bom, não sou eu que devo julgá-la. Deus o fará... Vaidosa, pretensiosa, orgulhosa, fadada a cair.
Ellen já ouvira essas acusações, mas jamais a tinham ferido tão profundamente como então. Contraiu-se visivelmente; sua sensação de culpa fez com que se sentisse mal. Umedeceu os lábios, mas não pôde falar. May achou que a sobrinha estava derrotada e sentiu o prazer da vingança. A longa convalescença de Ellen tinha feito com que perdesse as cores. Estava magra, os cabelos e os olhos tinham menos brilho. Naquele dia estava mais pálida ainda, de lábios descorados.
— Acho que está começando a compreender, agora que é tarde demais — acrescentou May.
Para Ellen, incrédula, as palavras terríveis da tia não tinham sentido, mas Jeremy teria compreendido imediatamente: Ellen corrompera a integridade da tia, dando-lhe um amor imerecido, assim como confiança e dedicação. May sabia apenas, sem sentir vergonha, que a crescente palidez de Ellen lhe agradava e a libertava, pois desde que pronunciara aquelas acusações acreditava que eram verdadeiras e que ela tinha justificativa para falar assim. O próprio silêncio da sobrinha lhe assegurava isso. Quando Ellen era criança, May levantara a mão para ela apenas uma ou duas vezes. Agora desejava fazê-lo novamente, mas com força e raiva. Seu rosto abatido e murcho corara, devido à sensação de que estava certa. Ergueu a voz e disse, com ênfase:
— Então, tenho que pensar em mim, Ellen, ao menos por uma vez, embora você só pense em você mesma, o tempo todo. Pois bem, para encurtar a história, depois de muitas cartas, a Sra. Eccles, devido à sua caridade cristã, concordou amavelmente em aceitar de mim setenta e cinco dólares por semana, por aqueles dois quartos bonitos, com comida. E escreveu (mostrei a carta à Srta. Ember) que concorda em que a Srta. Ember também vá, com a condição de trabalhar para ela apenas algumas horas por dia, talvez quatro ou cinco, dando-lhe o quarto que foi seu, Ellen, e comida. E a Srta. Ember me ajudará, também.
Ainda sem poder falar, Ellen olhou para a enfermeira, com olhos vidrados devido ao choque, de boca aberta. A Srta. Ember achou-a ainda mais “tola” do que de costume. May continuou:
— Escrevi à Sra. Eccles que ajudarei a pagar a hospedagem da Srta. Ember. Dar-lhe-ei quatro dólares por semana. Você está em condições de fazer isso.
Engolindo em seco, Ellen finalmente pôde falar. Em voz tensa, perguntou à enfermeira:
— E a senhora... acha... quer fazer isso?
O vulto avantajado da enfermeira pareceu aumentar, encher a saleta.
— Por quem me toma, Sra. Porter? Por uma imbecil? Claro que não quero isso e não o farei! Nunca ouvi maior maluquice na minha vida! Acho que sua tia perdeu o juízo; acho, realmente.
May fitou-a, horrorizada e atônita.
— Mas... Hoje de manhã, quando recebi a carta... — gaguejou ela. — Quando a mostrei à senhora... a senhora disse que era o que eu devia fazer, e que iria comigo e ajudaria a Sra. Eccles... Eu lhe disse que ela é uma cristã maravilhosa, e a senhora disse...
— Eu estava apenas procurando ser-lhe agradável — replicou a enfermeira, lançando a May um sorriso terrível e inamistoso. — Apenas o que as enfermeiras costumam fazer.
Sua voz era áspera e cruel. Ela jogou a cabeça para trás, como uma bola no alto do corpo enorme, e olhou para a tia e para a sobrinha com um sorriso de desprezo.
— Que é que eu poderia fazer, Sra. Porter, quando ela me falou sobre isso, hoje de manhã? Pedir que a colocassem numa camisa-de-força? Fiz o que pude. Acalmei-a da melhor maneira possível, prometi-lhe tudo. Ela parecia uma criança, batendo palmas... Tão tola! Fiz o possível. Sempre fiz o possível. Achei que ela mesma deveria falar com a senhora sobre o assunto.
Era muito raro Ellen ver alguém com clareza, ver uma pessoa em toda a sua fealdade, sem ilusão alguma. Foi o que aconteceu então, o que fez com que se sentisse mal, dando-lhe uma dor no coração. Sentiu medo e desprezo, como se tivesse encontrado alguma coisa incrivelmente vil, além da capacidade humana de vileza. Aquilo a arrasou, fez com que desejasse sair correndo, para nada ver, pois o encontro da inocência com a maldade humana lhe era intolerável, violentava-a. Não se lembrava de jamais ter sentido tanto medo.
Sua natural fortaleza voltou, clara, condenando, e ela olhou para a Srta. Ember com olhos brilhantes.
— Sabe que está mentindo. Queria que minha tia acreditasse em suas palavras para que a senhora tivesse oportunidade de feri-la, a ela, que nunca feriu a senhora. Desejava a oportunidade de me ferir, também, embora eu sempre tenha sido boa para a senhora. É uma mulher detestável, odiosa, má, e eu a despeço neste momento. Uma semana de aviso, com pagamento, e quero que saia desta casa amanhã de manhã.
Jamais falara daquele modo a pessoa alguma, e a enfermeira ofegou, atônita. Depois seus olhinhos tiveram um brilho astuto. May começara a choramingar como uma criança doente, com as mãos no rosto.
— A senhora pagará por isso, madame — disse a enfermeira, no tom de voz mais feio e mais ameaçador que Ellen jamais ouvira. — Sei de tudo a seu respeito, minha bela senhora. Todo mundo sabe. Não compreendo por que motivo fiquei aqui durante tanto tempo, na casa de uma criatura desavergonhada como a senhora. Todo mundo sabe. Sei por que motivo ficou tão doente quando teve aquelas crianças. Afinal de contas, sou enfermeira. A senhora me pagará um mês e me dará referências, ou...
— Ou o quê? — perguntou Ellen, de novo abalada. Tinha impressão de que iria desmaiar. Aquela mulher a aterrorizava.
A Srta. Ember inclinou a cabeça e teve um sorriso torto.
— Falarei à cidade toda sobre a senhora. Não poderá mais andar de cabeça erguida na alta sociedade que, seja como for, ri às suas costas.
“Que é que ela poderá falar de mim?”, pensou Ellen, vagamente. Mas ocorreu-lhe, pela primeira vez na vida, que as mentiras e as calúnias são aceitas prazerosamente pela maioria das pessoas e que a verdade é ignorada, ou negada. “Jeremy!”, pensou ela. “Seus inimigos acreditarão em qualquer coisa que possa desacreditá-lo, embora seja apenas sobre a sua mulher.”
Ficou apavorada; o coração parecia pulsar em sua garganta. A Srta. Ember observava-a com ódio e uma alegria exultante, vendo-a trêmula e cambaleante.
— Um mês de pagamento e boas referências — repetiu a enfermeira.
Então, o aço que havia sob a magnanimidade e a sincera solicitude de Ellen surgiu na expressão de seu rosto. Ellen fechou as mãos delicadas caídas ao longo do corpo. Fitou a Srta. Ember com olhar sombrio, de cólera e desprezo.
— Se a senhora disser uma mentira a meu respeito, sobre esta casa ou qualquer pessoa daqui... eu mandarei prendê-la — disse Ellen, em tom quase firme. — Quem é a senhora? Não é nada, nada. Meu marido é um congressista respeitado, além de advogado. Arrume a mala e saia imediatamente, ou irei chamá-lo e a senhora passará muito tempo na cadeia, por proferir ameaças perigosas. Ameaças. Saia! Não receberá nenhuma referência da minha parte. Vá, antes que eu perca o pouco de paciência que me restou.
May soltou um grito.
— E eu, Ellen? Quem cuidará de mim? Por que está fazendo isso? A Srta. Ember... não disse nada por mal. Estava apenas querendo acalmar-me.
— É uma crueldade! — exclamou a enfermeira, que ficara lívida. — Sou apenas uma mulher pobre, uma enfermeira, procurando cumprir o meu dever, e a senhora se volta contra mim... contra mim, Sra. Porter, como uma serpente! Mas gente rica é assim mesmo. Não liga a nada, a não ser para o dinheiro.
Ellen aproximou-se da tia e colocou a mão no ombro dela. Inclinou-se, dizendo:
— Annie cuidará de você hoje à noite e até encontrarmos outra enfermeira, tia May. Arranjaremos uma boa enfermeira, amanhã.
— Não quero ninguém a não ser a Srta. Ember — gemeu May, virando o rosto, como se Ellen lhe tivesse batido. — Não quero aquela.... moça.
— Claro que não! — exclamou a Srta. Ember, compreendendo pela primeira vez a enormidade de sua conduta, mas imediatamente culpando Ellen por isso. — Annie não passa de uma vagabunda, uma incompetente. — Respirou pesadamente. Pensara que, já que May era inválida e Ellen “de miolo mole e fraca”, poderia abusar das duas à vontade. Durante aqueles anos insultara Ellen tanto às ocultas como abertamente, e a moça apenas se mostrara deprimida, não replicando, de modo que a enfermeira se tornara cada vez mais ousada em suas ironias, dizendo a si mesma que, já que a tia e a sobrinha “não são melhores do que eu, até de classe mais baixa”, ela poderia falar e agir impunemente. Nunca, até hoje, Ellen a desafiara, e ela se sentia ultrajada. Quem é que aquela ruiva pensava que era, afinal de contas?
A Srta. Ember era astuta. Viu o perfil branco estranhamente teimoso de Ellen, quando esta se debruçou sobre a tia. Conhecia a natureza de Ellen, de modo que recorreu às lágrimas, chorando convulsivamente.
— Aqui estou eu, fiel e leal durante todos estes anos, dia e noite, fazendo tudo, a qualquer hora! Leal como uma escrava! Nada era demais para mim, quando se tratava de minha paciente...
— É a pura verdade — choramingou May. — Leal e fiel... é assim a Srta. Ember. E agora você faz com que ela me abandone, sem ninguém que ligue para mim, deixando-me talvez morrer aqui sozinha. Não quero aquela moça, Ellen, nem qualquer outra. Mande-me para um asilo de velhos. É isso o que você quer, o que sempre quis, e é esta paga que recebo por ter cuidado de você a vida inteira.
Ellen olhou para a enfermeira de rosto vermelho, inchado, cheio de lágrimas, e que soluçava. Seu coração compassivo começou a atraiçoá-la e a dominar o que nela havia de forte. Para onde iria aquela pobre mulher, se fosse expulsa, sem referências, desonrada e sozinha? Sim, ela fora insolente. Mas a compaixão era tão profunda em Ellen que por um momento se esqueceu da crueldade e dos insultos daquela mulher. Seus olhos começaram a suavizar-se. A Srta. Ember percebeu isso e soluçou mais fortemente ainda.
— Leal, fiel — gemeu ela. — Mas que mais poderia eu esperar, uma criatura pobre e indefesa, à mercê de gente rica?
Ellen pensou no Sermão da Montanha: “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia”. Podia ver a pobre igrejinha de Preston, iluminada pelo sol, e ouvir a voz do pastor. Abriu a boca para falar, justamente no momento em que começava a acusar-se de ser impiedosa, quando a voz de Cuthbert, fria e grave, soou à porta:
— Posso ajudá-la, senhora?
Todos na saleta se sobressaltaram, virando-se e vendo Cuthbert e Annie à porta. Ellen nunca vira Cuthbert com ar tão severo e nem Annie com expressão tão encolerizada.
— Eu... não sei — disse Ellen, sem saber como agir.
— Foi apenas um pequeno desentendimento... Acho que agora tudo está certo...
— Não, senhora — declarou Cuthbert, em tom severo. — Nunca esteve “certo”, desde o princípio. A senhora já aguentou demais essa mulher. — Olhou para a enfermeira e ela se encolheu. — Você vai fazer sua mala e sair desta casa, sem pagamento extra e sem referências. Já conheci gente do seu tipo, pessoas mandonas, explorando a bondade alheia, insultuosas, insuportáveis e extremamente más. Dou-lhe uma hora para sair daqui.
A Srta. Ember gritou; seu rosto estava contorcido por tal ódio que Ellen recuou involuntariamente.
— Quem é que você pensa que é? — disse a enfermeira.
— É apenas um empregado, como eu, e essa moça, também! Quem decide é a Sra. Porter, ou a Sra. Watson, não você!
— Saia — disse Cuthbert, avançando para ela com ar terrível. A enfermeira se encolheu.
— Eu vou, eu vou — murmurou, enxugando o rosto com as costas da mão não muito limpa. — Estava apenas cumprindo o meu dever. É assim que me pagam.
— Não me deixe! — gritou May. Pela primeira vez olhou para Ellen com tal ódio, que ela ficou consternada. — Minha opinião também conta.
— Sinto muito, Sra. Watson, mas a Sra. Porter é quem manda — replicou Cuthbert. — Ela já despediu esta mulher.
— Dirigiu-se à enfermeira: — Vá. — Tirou o relógio e olhou as horas. — Chamarei a polícia se você não tiver saído dentro de uma hora. Ameaças e tentativas de intimidação! Minha paciência está se esgotando.
— Mas... — começou Ellen, timidamente.
Cuthbert fitou-a afetuosamente, mas também com severidade, e Ellen calou-se.
— Por favor, deixe-me cuidar disso, como o Sr. Porter cuidaria — disse ele, em tom não muito suave. — Assumo a responsabilidade. A senhora já aguentou demais.
Annie falou pela primeira vez, dirigindo-se à Srta. Ember. Bruscamente e com um gesto determinado, disse:
— Eu gostaria de atirá-la fora com minhas próprias mãos. — Cheirou o ar e acrescentou: — Esta sala está suja. Edith quis vir aqui várias vezes, para limpá-la, mas a senhora não o permitiu. Além do mais, é serviço seu. “Fiel e leal!” Gente como a senhora sempre diz isso quando é apanhada.
— Não quero saber de você perto de mim! — exclamou May, chorando e tão fora de si que conseguiu ficar de pé. Seus cabelos brancos estavam em desordem, a fisionomia tensa. Ellen deu um passo em direção a ela, mas Cuthbert segurou-a pelo braço, como um pai. Perturbada, Ellen disse:
— Não me olhe assim, titia. Não posso suportar isso. Por favor.
May virou-se para ela, quase com selvageria.
— Olho, sim, olho. Você merece isso, Ellen. É tão má quanto o seu pai, até mesmo pior. Eu sabia disso, desde que você era criança. Voluntariosa, sempre procurando fazer o que queria, não ligando para ninguém, a não ser para você mesma. E quem é você, afinal de contas! É uma...
Cuthbert ergueu a mão, com ar autoritário.
— Sra. Watson, ouvi toda a conversa nesta sala. Falarei com o Sr. Porter hoje à noite. Agora, quer fazer o favor de sentar-se?
Mas May estava fora de si, todos os anos de frustrações vindo-lhe à lembrança, todos os abusos de que se julgava vítima, todos os ressentimentos. Dirigiu-se apenas a Ellen.
— Você não tem vergonha! Passou a noite anterior ao casamento com aquele homem! Como uma vagabunda! Teve sorte de ele se casar com você. Ele não queria, mas eu estava lá para protegê-la. Como uma vagabunda, Ellen, e talvez não seja melhor agora.
Ellen desviou o rosto para que ninguém lhe visse as lágrimas. Seu amor pela tia ainda era bastante forte, não a deixando compreender o que lhe fora dito. Sabia apenas que se sentia arrasada, sozinha, vulnerável, abandonada por alguém que a amara e cuidara dela. Agora a tia era uma inimiga que a desprezava, talvez com razão. May a amara e a alimentara, trabalhara para ela durante muitos anos... Se May a rejeitava assim, a culpa era provavelmente dela, Ellen. Pior ainda, sentia-se degradada, sem valor.
Annie aproximou-se da Srta. Ember, ameaçadoramente. A enfermeira desviou-se da mão estendida e correu para o seu quarto, onde começou a fazer a mala. Cuthbert olhou para May, que ainda estava de pé, apoiando-se na cadeira e fulminando o velho com o olhar.
— Você não passa de um criado! Vou falar com o Sr. Porter hoje à noite. Direi o que você é.
— Tenho certeza disso — replicou ele, polidamente. — Já que a senhora não quer Annie, mandarei uma das empregadas para ficar aqui. — Pegou de novo o braço de Ellen, acrescentando: — Não está na hora de seu passeio com as crianças, madame? Sim, está. A senhora precisa de ar fresco, antes que chova. Lembre-se de que ainda não está totalmente recuperada e que o Sr. Porter ficará zangado se a senhora não der seu passeio.
Ao ouvir o nome de Jeremy, Ellen ficou imediatamente submissa. Deixou que Cuthbert a levasse até a porta. Mas olhou para a tia com ar desesperado, súplice. May retribuiu o olhar com teimosa rejeição. Ellen abaixou a cabeça e desceu com Annie, que a amparou com ternura, embora seus olhos azuis tivessem um brilho colérico.
— As crianças estão prontas, à nossa espera. Vamos depressa, antes que chova. Precisa ter cuidado, Sra. Porter, por causa de seu marido. Meu Deus, a senhora parece estar doente!
— Sou impiedosa — replicou Ellen, em voz baixa.
— As pessoas esquecem — disse Annie, sorrindo. — Deus é um Deus de vingança, assim como um Deus de bondade. E devemos ser também assim, ou não teremos nenhum respeito próprio, como seres humanos, e nenhum orgulho. Não se esqueça do que aquela cadela lhe disse. Ela tem falado mais ou menos assim, durante anos, com a senhora e com sua tia, e a senhora nunca replicou! Precisa ter orgulho e disciplina, Sra. Porter, do contrário todos acharão que é uma coitada e lhe darão pontapés. Eu gostaria de ter dado um naquela mulher! Estou esperando há anos para bater nela.
Ellen ainda estava pálida, mas controlada, quando saiu de casa com Annie e as crianças. Christian caminhava a seu lado, impaciente, e a menina ia no carrinho. Seu vestido verde-claro a embelezava, realçando seu cabelo ruivo e o chapéu verde com plumas douradas. A blusa de seda branca tinha em cima um broche de brilhantes e rubis. As mãos enluvadas estavam trêmulas e ela procurou controlá-las. Annie empurrava o carrinho depressa, falando animadamente. Ellen tentava responder, assim como tentava sorrir. Mas não podia esquecer o olhar maligno da tia. Sua garganta parecia fechar-se, com emoção reprimida.
Annie era uma criatura atraente, com seu uniforme branco, meio encoberto pela longa capa de lã azul. Usava uma touca branca no alto dos cabelos louros e encaracolados. O vento deu colorido ao seu rosto redondo, de nariz arrebitado. Quando Christian quis correr atrás de um cão vadio, ela o chamou severamente e o menino voltou com expressão rebelde no rosto. Mas Annie sabia se fazer obedecer por ele, o que Ellen não conseguia. Na idade de três anos, Christian já tinha uma clara percepção do gênio suave de sua mãe e explorava-a na ausência de Annie, mostrando-se, entretanto, dócil quando a pajem estava presente. Annie tinha a mão dura e rápida e a usava em Christian, apesar dos fracos protestos de Ellen. O menino respeitava o pai ainda mais do que Annie; bastava Jeremy lançar-lhe um olhar severo para ser obedecido.
Era um menino bonito, muito parecido com a mãe, com os mesmos cabelos ruivos e brilhantes, os mesmos olhos azuis e a mesma boca larga. Mas a expressão era diferente. Expressão cruel e desafiadora, até mesmo para a sua idade, e queixo teimoso. Caminhava com orgulho e arrogância, ao contrário de Ellen. Estava encantador em seu terninho de marinheiro, de calça curta, com todos aqueles botões de metal, boné de marinheiro colocado num ângulo desafiador, mãos enluvadas, botinas brilhantes. Ellen observava-o com um misto de apreensão e amor. “Que menino bonito!”, pensou, sorrindo sem querer.
A menina, com um casaco branco e touca de renda, era forte, sentada ereta no carrinho, observando tudo com seus inteligentes olhos negros, os cachos escuros esvoaçando à volta do rosto corado e caindo atrás, sobre a gola do casaquinho. Balbuciava constantemente, apontando para um lado e para outro, pulando sobre os travesseiros. Era muito insistente, mas quando Annie a fitava com severidade ficava quieta por um momento ou dois. Na presença de Jeremy, era tão dengosa e tentadora que ele estava quase convencido de que a menina tinha bom gênio. Para Ellen, era tão geniosa quanto o irmão. Seu rosto fino, de queixo pontudo, tornava-se às vezes duro, calculista mesmo para uma criança, e ela observava a mãe, à espera do menor sinal de fraqueza. Gabrielle e o irmão eram excelentes amigos, pois se compreendiam muito bem.
— A senhora precisa ensinar-lhes quem é que manda, de uma vez por todas, desde os primeiros dias — costumava Annie dizer a Ellen. — Se deixar que desobedeçam, mesmo uma única vez, terá uns monstrinhos nas mãos. — Dizia isso e sorria.
— As crianças não precisam de castigo; precisam de amor — replicava Ellen, esquecendo-se das crianças de sua infância.
— Claro que precisam de amor. Quem não precisa de amor, Sra. Porter? Mas todo mundo tem que aprender que há limites, ou alguém sofrerá. As crianças são como cachorrinhos. Têm que ser treinadas por um amo, ou correrão por toda parte, sujando tudo, até mesmo depois de crescidas. Conheço muitas, pode crer-me! — Um minuto depois, Ellen ria.
Naquele dia, enquanto caminhavam juntas, Annie diminuiu seus passos, geralmente vivos, por causa de Ellen, que parecia exausta. Tagarelava, embora estivesse realmente preocupada com a palidez da patroa e com seu ar abstrato. Percebia que ela não a estava escutando realmente e ficou um pouco impaciente. “Está pensando naquela sua tia”, refletiu Annie. “Nunca vi uma criatura igual! E por quê? Porque madame é tão boa e meiga e cede sempre. Eu despacharia a tia, é o que eu faria, se o caso fosse comigo. Ela não merece viver naquela casa.”
O sol desaparecera. Nuvens escuras apareceram; soprava um vento frio, cheio de poeira, de esterco fino e de fuligem. Havia no ar um ardor de gás de carvão. As arvorezinhas ao longo da rua seguravam teimosamente as últimas folhas bronzeadas. As folhas soltas esvoaçavam diante dos pedestres e das carruagens, com um ruído áspero. O ambiente estava de acordo com a disposição de espírito de Ellen, que se sentia triste e cheia de angústia pelo amanhã. Estremeceu, aconchegando nos ombros a capa de zibelina. O grupinho entrou na Fifth Avenue, onde as janelas das mansões já brilhavam com as luzes acesas lá dentro.
Um rapaz aproximou-se delas com passos balanceados e um jeito pedante. Era alto e magro. Seu traje, feito com uma rica fazenda preta, acentuava sua esbeltez; usava colete de brocado e um derby preto que ocultava a meio seus cabelos louros. Na gravata preta havia um alfinete de pérola e na mão enluvada uma bengala. Usava óculos com aro de metal, que não escondiam a fixidez fria dos olhos claros. Tinha uma tez muito pálida, lábios comprimidos que não demonstravam o menor sinal de humor. Dirigiu-se vivamente para o grupinho de Ellen, como se não o visse e fosse chocar-se com ele. Annie estacou, alarmada, e emitiu um som de aviso. Ellen ergueu os olhos que contemplavam tristemente o chão, depois corou e parou.
— Sr. Francis! — exclamou.
O rapaz estacou bruscamente, depois também enrubesceu. Tirou o chapéu e ficou firme diante delas, com o chapéu na mão enluvada, o vento fazendo com que seus cabelos louros esvoaçassem.
— Ellen — disse ele, e um leve tremor agitou seu rosto.
Annie fitou-o com ar interrogador. Então era aquele o
“Sr. Francis” de quem Ellen falava algumas vezes com uma afeição hesitante e com gratidão. Pois bem, era um esnobe, se é que ela já vira um, embora fosse de fato um cavalheiro. Boa aparência, também, para quem gostasse daquele tipo. Annie não gostava.
Fazia quase quatro anos que Ellen não o via. Sorriu-lhe timidamente, estendendo-lhe a mão, e ele tomou-a. Depois tentou retirá-la, mas Francis a reteve com tanta força que seus dedos começaram a doer e um de seus anéis a machucou. Nem Jeremy nem Walter mencionavam Francis na presença dela, mas Ellen muitas vezes lia o seu nome nos jornais. “O advogado do trabalhador.” Alguns jornais o elogiavam, outros o ridicularizavam. As caricaturas eram “muito pouco lisonjeiras”, na opinião de Ellen. O nariz não era tão fino e tão agudo, nem a expressão do rosto tão sombria e venenosa. A não ser por isso, a semelhança era grande, embora cruel e exagerada, como em todas as caricaturas de políticos. Francis era também chamado, nos jornais hostis, de “investigador nos casos de denúncias de corrupção”.
Ao olhar para Francis, agora, Ellen não pôde deixar de pensar que o tempo não fora condescendente com ele, nem suavizara seus traços. Seu ar pomposo se acentuara, mas quando Francis fitou Ellen havia em seus olhos um calor amargo, embora desejoso, e ele chegou a ter um sorriso incerto. Ela chamou a atenção de Francis para as crianças e a expressão dele mudou, tornando-se mais tensa do que antes, e mais fria, embora ele apertasse a mão de Christian e fingisse examinar o bebê com interesse. A astuta e curiosa Annie pensou: “Ora, parece que ele odeia as crianças e eu gostaria de saber por quê. Mas não há dúvida de que gosta da mamãe, se não me enganei com a expressão que percebi em seus olhos”.
Ellen estava constrangida com o encontro, lembrando-se da última vez em que o vira e da atitude violenta de Jeremy para com o primo. Que fora mesmo que Jeremy dissera? “Eu o matarei.” O rubor de Ellen se acentuou e, quando indagou da saúde dele, suas maneiras se tornaram ao mesmo tempo nervosas e conciliadoras.
— Você não me parece bem — comentou Francis, em tom significativo.
— Oh, estou melhorando dia a dia — respondeu Ellen. Pensou no pai de Francis, que jantaria na casa deles naquela noite. Ficou imaginando se Walter às vezes falava dela ao filho.
— Esteve doente? — perguntou Francis, sinceramente preocupado.
— Pois bem... — respondeu Ellen e não soube mais o que dizer. Annie, a moça resoluta, explicou:
— A Sra. Porter sofreu muito com o nascimento do último bebê, Sr. Porter.
— Annie! — exclamou Ellen, sem saber para onde olhar.
Mas Francis esqueceu-se de que estavam no meio de uma rua movimentada, com pedestres passando por eles, empurrando-os, impacientes. Viu apenas Ellen e pensou em Jeremy com renovado furor. Então o bruto a reduzira àquela magreza que não a lisonjeava, a sua linda Ellen. Nunca se esquecia dela, nem mesmo por um dia. Vê-la em pessoa emocionava-o como raramente se emocionava e, se fosse mulher, teria chorado e a teria abraçado. Queria fazer ambas as coisas. Para aliviar o embaraço de Ellen, perguntou:
— Como vai sua tia? — Fitou-a agora atentamente, pois a Sra. Eccles, sua tia, conservava-o informado e ele sabia da existência das cartas abjetas de May.
— O senhor sabe que ela tem artrite — respondeu Ellen. O som da voz dela o comoveu mais ainda, pois era melancólico. — A não ser por isso, ela está bem, o quanto possível. — Ellen estava muito constrangida e desejava ir-se embora o mais depressa possível.
— Ela nunca deveria ter vindo para Nova York — observou Francis, e foi como se de novo estivesse censurando Ellen.
— Mas para onde poderia ir? Sou... eu era... a única pessoa que lhe restava no mundo. Ela não teria gostado de ficar sozinha.
— Não? — disse Francis. Seu tom de voz aumentou o desconforto de Ellen. O rapaz inclinou a cabeça e fitou-a com ar de censura, como se falasse com um empregado que tivesse duvidado da decisão dele. De novo Ellen se sentiu inferior e desajeitada. Mas disse, com alguma firmeza:
— Não. Ela não tinha mais ninguém.
— Tinha a minha tia — replicou Francis. Ellen fitou-o em silêncio. Algumas gotas de chuva começaram a cair e ela ficou grata por isso.
Christian estivera olhando para o primo de seu pai com o desinteresse franco das crianças, mas sentiu a tensão entre aquele homem e sua mãe. Annie virou vivamente o carrinho do bebê e disse:
— Está chovendo. É melhor nos apressarmos antes que caia uma chuvarada.
— É verdade — concordou vivamente Ellen. De novo estendeu a mão a Francis, que a segurou.
— Penso sempre em você — disse ele, em voz baixa. Seu autocontrole vacilou.
— Eu... penso no senhor, também — replicou Ellen.
— Até logo, Sr. Francis. Dê lembranças à Sra. Eccles.
Pegou a mão de Christian e puxou-o apressadamente. Annie começou a andar e Ellen seguiu-a. Francis ficou ali parado, vendo o grupo afastar-se, e sentiu de novo a antiga paixão, o antigo desespero. Seguiu Ellen com o olhar, até ela virar a esquina, e a expressão de seu rosto já não era severa. Havia ali anseio, desolação e uma dor profunda.
Aquela noite, depois que os convidados partiram, Cuthbert aproximou-se de Jeremy e disse:
— Posso dar-lhe uma palavrinha na biblioteca, senhor?
— Jeremy ergueu as sobrancelhas negras e inclinou a cabeça. Cuthbert seguiu-o, entrando na sala aquecida, onde o fogo ardia na lareira. Disse: — A Sra. Porter lhe contou a respeito de um certo... episódio... que ocorreu hoje, na saleta de sua tia, senhor?
— Não — respondeu Jeremy, olhando atentamente para o velho empregado. — Ela parecia mais cansada hoje à noite e pediu desculpas por retirar-se, há meia hora. Há algo errado?
Cuthbert contou-lhe então, com uma calma precisão e num tom despido de qualquer julgamento. Jeremy ouviu-o e sua expressão se tornou dura, tão grande era a sua cólera. Cuthbert terminou:
— Peço-lhe perdão, senhor, e não me considere impertinente, mas achei que deveria saber, por causa da Sra. Porter. Ela parecia uma morta, depois do... episódio... e ainda mais consternada ao jantar, se é que isso é possível.
— Obrigado, Cuthbert.
Jeremy virou-se vivamente e subiu até os aposentos de May. A porta estava aberta, como sempre, e Edith, uma das empregadas, se achava ao lado dela. O rosto cinzento da velha adquiriu uma expressão furtiva quando Jeremy entrou. Ela virou a cabeça e ficou olhando o fogo, mas não antes de Jeremy ter visto que seus olhos estavam inchados e vermelhos. Ele fez sinal a Edith e a moça saiu da saleta, fechando a porta, um ato forçado, que a desgostou, pois a notícia da cena daquela manhã se espalhara depressa pela casa.
Jeremy sentou-se e olhou sem compaixão para a doente. Havia ocasiões em que tinha pena dela, embora a visitasse raramente. Depois olhou à volta da sala úmida e atulhada e sua cólera aumentou. Com palavras refletidas, disse: .
— Sra. Watson, ouvi dizer que gostaria de voltar para a casa da Sra. Eccles, em Wheatfield, embora ela tenha pedido uma quantia exorbitante por sua hospedagem. Setenta e cinco dólares por semana! Ela deve realmente estar sofrendo as consequências da crise. Vou oferecer-lhe trinta e, conhecendo a Sra. Eccles, sei que aceitará sem regatear. Arranjarei também uma enfermeira para tratar da senhora, lá. Para ser exato, vou contratar, amanhã, uma que a levará para Wheatfield e ficará com a senhora.
May virou a cabeça impetuosamente e Jeremy viu que ela estava terrivelmente consternada.
— Ellen! Que mentiras ela lhe disse?
— Ainda não falei com Ellen. Ela nada me disse. — Jeremy estava fazendo um esforço para controlar-se. — Cuthbert acaba de me informar.
— Oh, aquele homem! Ele diria qualquer coisa! Contou-lhe como Ellen foi cruel com a pobre Srta. Ember e como a tocou desta casa, deixando-me sozinha, sem ligar para mim, quando tomei conta dela desde que era um bebê e sua mãe morreu? Fui mais do que mãe para ela... E como é que me paga? — May começou a chorar, com soluços entrecortados, mas Jeremy apenas ficou em silêncio, observando-a. Depois, ele disse:
— Sra. Watson, reconheço que está doente, de modo que não quero incomodá-la mais. Sei que a moléstia a mudou nestes últimos anos. Antigamente a senhora gostava de Ellen; cuidou dela. Sua sobrinha a ama, sempre a protege e se preocupa com a senhora, até mesmo nas atuais circunstâncias. Não vou perguntar-lhe por que está agora tão afastada dela, embora Ellen não esteja afastada da senhora. Creio que sei qual o motivo. Não falemos nisso. Mas quero que saiba que Ellen está desolada e não consentirei, repito, não consentirei que a senhora a faça sofrer mais. Ela não aguentaria. Assim sendo... — Jeremy levantou-se e continuou: — Sra. Watson, vou mandá-la para “casa”, como a senhora muitas vezes se expressou. Telegrafarei à Sra. Eccles hoje à noite, dizendo que a senhora aceitou o oferecimento dela e logo chegará lá.
— Não! — gritou May. — Não quero ir! Não sem Ellen. Diga a Ellen que quero vê-la imediatamente. — Torceu com força as mãos deformadas, num gesto agoniado.
— Não — declarou Jeremy. — Vou levar Ellen comigo para Washington, amanhã. A senhora não estará mais aqui, quando ela voltar. Assim, despeço-me da senhora por ela, agora. — Depois perguntou: — Só por curiosidade, por que motivo escreveu à Sra. Eccles que queria ir morar com ela?
May mordeu os lábios úmidos. Pôs a mão na testa e sacudiu a cabeça de um lado a outro, lentamente.
— Realmente não sei — murmurou. — Sou uma mulher doente... O senhor não compreende.
— Acho que compreendo bem demais — replicou Jeremy, em tom novamente encolerizado. — A senhora queria ferir Ellen. Queria torná-la infeliz e fazer com que se sentisse culpada. Quando lhe falou sobre isso, não tinha realmente intenção de sair de minha casa. Foi uma maldosa fantasia sua... para arrasar Ellen.
— Não, não. Como pode dizer tais coisas? Pensei... Pensei realmente que seria o melhor. Cheguei a consultar a Srta. Ember; ela pode confirmar isso. Acho que era realmente o que eu queria. Tenho pensado nisso o tempo todo, desde que vivo aqui, uma hóspede indesejável, um fardo. Ellen sempre me fez sentir como se a incomodasse, como se eu não tivesse o direito de estar aqui. Uma hóspede indesejável. Ela nunca pensa em ninguém, a não ser em si própria e em seu conforto. Nunca deveríamos ter saído de Wheatfield! — May fitou Jeremy com um ar de recriminação. — O senhor agiu muito mal e sabe disso. Deus já...
— Vamos deixar Deus fora disso — disse Jeremy.
May estava agora louca de medo e excitada.
— Estou sempre dizendo a Ellen que ela vai arrepender-se, um dia destes, e então não terá a quem recorrer, a não ser a mim! Ela criará juízo, é o que lhe digo, e quanto mais depressa, melhor. Não foi feita para este tipo de vida e está doente porque começou a compreender isso. No fundo do coração, quer ir para casa, também, e ser o que sempre foi. As roupas bonitas e as joias que o senhor lhe deu nunca a mudarão, não a farão feliz...
“Deus do céu!”, pensou Jeremy. Em sua cólera havia um misto de piedade por aquela mulher estúpida, teimosa, cujo amor pela sobrinha se transformara em ressentimento e talvez até em ódio. Ele procurou pensar na condição física de May, em seu sofrimento real e, assim, disse:
— A senhora não é a mesma, Sra. Watson. Sei que a doença pode afetar a mente. Quando se sentir melhor, mais tarde, escreva a Ellen o mais afetuosamente que lhe for possível. Ela o merece. Apesar de tudo, a senhora sabe disso.
May bateu com os punhos nos joelhos magros e encarou Jeremy através das lágrimas, dizendo:
— Ela ficará contente quando eu morrer! É o que deseja, ver-me morta. Quanto ao senhor, acabará percebendo o que Ellen é, e eu tenho pena do senhor.
Jeremy virou-se e saiu da saleta. Enquanto descia a escada, podia ouvir o choro de May, mas não sentiu piedade. Foi para o quarto de Ellen e encontrou-a deitada na cama, prostrada, os cabelos soltos sobre os travesseiros. Não estava dormindo. Sentou-se quando o viu entrar e estendeu-lhe os braços em silêncio. Seus olhos estavam marejados de lágrimas. Jeremy sentou-se na cama e tomou-a nos braços. Sua cólera aumentou.
— Como você sabe, amor, iremos para Washington amanhã, às sete horas da manhã — disse ele, sem perguntar por que motivo ela estava chorando. Enxugou-lhe as lágrimas e sorriu.
— Oh, esquecime! Não posso deixar tia May. Preciso contar-lhe uma coisa, Jeremy.
— Sei de tudo. Cuthbert me contou. Ele achou melhor, para poupar a você o aborrecimento de contar-me. Agora, não fique com essa cara, meu amor. Sua tia ficará muito bem aqui. Edith está lhe dando os comprimidos para dormir. Ela dormirá até tarde. Não a incomode, portanto. Ela precisa de todo o repouso possível, não é mesmo? Amanhã terá uma outra enfermeira, ainda melhor.
— Ela quer voltar “para casa”, aquela horrível casa de Wheatfield. Imagine só! — disse Ellen. Sorriu, mesmo enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos.
— Sim, imagine! — concordou Jeremy. — Deite-se agora, meu amor. Importa-se que eu me deite a seu lado?
Ellen se sentiu quase alegre, e seu belo rosto ficou corado de prazer. Tinham sido longos, longos meses, aqueles em que esperara para recuperar-se totalmente. Colocou os braços à volta do pescoço de Jeremy e puxou-o contra o seu corpo. Não sabia bem por quê, mas só a presença de Jeremy a abrigava, cercando-a como um muro. Fizeram amor pela primeiravvez em muitos meses e foi como a primeira noite.
Capítulo 18
O marido de Kitty Wilder, Jochan, sócio de Jeremy no escritório de advocacia, tinha perdido a maior parte de sua fortuna um ou dois anos antes do craque de 1907 e ficara relativamente pobre. Ele investira no mercado de ações, com otimismo, até um ponto perigoso. Kitty, viva e astuta, fora mais conservadora. Também ela, entretanto, estava sofrendo, e isso a assustava e a revoltava ao mesmo tempo.
Jochan ainda era um homem tímido, flexível, o que aumentava a repulsa de Kitty, que não mais o achava atraente, com seu rosto claro, ingênuo, bonito; seus olhos claros e irrequietos não mais a intrigavam. Ele conservara os cabelos dourados, ondulados e longos demais, mas Kitty não gostava de homens louros. As feições delicadas de Jochan, sua cortesia sincera até mesmo com os empregados, o sorriso cativante, tudo parecia a Kitty um tanto efeminado. Além do mais, havia muito tempo que ele deixara de dormir na cama da mulher e conservava fechada a porta de seu quarto, o que Kitty achava amargamente divertido. Ela se parecia cada vez mais com uma gatinha preta; não sabia que Jochan agora a achava horrenda e que para ele tinha um cheiro de animal selvagem. Ignorava que ele tinha uma amante terna e complacente que o amava e admirava. Se lhe tivessem contado isso, ela não teria acreditado e teria feito observações torpes sobre a virilidade do marido. Certa vez, dissera a uma amiga:
— Jochan é, na realidade, uma Ellen Porter, só que masculino — e rira alegremente. — Mas talvez eu esteja exagerando ao usar a palavra “masculino” em relação a ele.
Jochan ficara desolado com a perda da maior parte de sua fortuna, pois agora não podia gastar muito com a amante, apesar de ela lhe assegurar que isso não tinha importância. Mas importava a Jochan, que a adorava. Assim, quando Jeremy, após o primeiro ano passado em Washington, convidou-o para ir para lá como seu assistente com um salário mais do que generoso, Jochan aceitou a oferta, profundamente grato. Ele sentia por Jeremy a admiração e a dedicação que os homens menos firmes têm pelos que possuem grande autoridade pessoal e de cuja força os fracos nunca duvidam. Jochan duvidava da sua própria, pois Kitty fora muito franca a este respeito durante os anos de casamento e ele tinha o hábito deplorável da autodepreciação. Jeremy, que conhecia a dedicação do amigo, gostava dele.
Então, Kitty, encantada, e Jochan, ansioso para ajudar Jeremy ao máximo, mudaram-se para Washington e instalaram-se numa casa em Georgetown, pequena mas encantadora, muito perto da residência de Jeremy Porter, maior e mais luxuosa. Kitty, muito sociável, logo fez amizade com os colegas de Jeremy e com suas esposas, que ficaram encantadas com ela, o mesmo não tendo acontecido em relação a Ellen. O mundanismo de Kitty, seu espírito, suas respostas prontas, seu desejo de agradar (ela era perita nisso, quando lhe convinha), assim como sua óbvia sofisticação, fizeram com que imediatamente ficasse popular. Além do mais, tinha conhecidos em várias embaixadas e frequentemente se referia a seu pai, “o Senador”. Kitty tinha naturalidade, graça, alegria e maneiras cativantes. Seu gosto em matéria de roupas, de joias e de mobília logo se tornou famoso e ela era consultada sobre roupas pelas mulheres de senadores e de embaixadores, e certa vez até mesmo a primeira dama a consultou, antes de um baile.
Kitty estava radiante com tudo. Acreditava que se achava no ambiente certo, entre as pessoas poderosas e influentes da América. Adorava o cheiro forte do poder; para ela, era mais excitante do que o vinho, ou os jantares elegantes. Muitas vezes lamentava que as mulheres não pudessem votar, acreditando que, se tivessem esse direito, ela seria eleita para o Congresso.
Não cessava de adular e de consultar Jeremy, que, finalmente, começou a achá-la divertida e se tornou mais tolerante em relação a ela. Agora, mais do que nunca, Kitty era a confidente, a guia e a amiga dedicada de Ellen, que tinha medo de Washington, sentia-se constrangida em reuniões e tremia quando era convidada para uma grande festa na Casa Branca. Ellen se apoiava cada vez mais na amiga, inclinação que Kitty cultivava cuidadosamente. Kitty passava a metade do tempo em Washington e a outra metade em Nova York, sentindo prazer nisso, e não compreendia a repulsa de Ellen pela capital.
— Querida, aqui está o centro da lei da América — costumava ela dizer. — Como é possível que você não fique excitada com tudo isso?
Ellen, decididamente, não ficava excitada. Nas festas movimentadas, olhava à volta com estranho medo e pouco falava, ao passo que Kitty se movia sinuosamente e com vivacidade, muito bem-vestida, conversando com brilho e humor. Era muito apreciada pelos homens, mas tinha o cuidado de agradar também às mulheres. Ninguém percebia que era de fato muito feia; sua vivacidade fazia mesmo com que os outros não notassem os dentes enormes no rosto moreno. Havia algumas pessoas que, tendo-os a princípio classificado de “dentes de cavalo”, tinham chegado a admirá-los, achando-os atraentes. Ellen observava-a e ouvia-a com admiração, sentindo-se rude, desajeitada e estupidamente muda.
Kitty ficara tentada, a princípio, a aconselhar Ellen a comprar roupas que não lhe assentassem, muito vistosas, de “atriz”, para que a amiga se tornasse ainda menos popular do que já era e fosse severamente criticada. Depois, sua inteligência a dissuadira. Sabia que Jeremy seria o primeiro a notá-las e a censuraria imediatamente. A boa vontade de Jeremy era o elemento vital na existência de Kitty, tanto por causa de sua ambição, como de sua concupiscência. Apesar disso, ela estava habilmente solapando o pouco de autoconfiança que a amiga possuía, de modo que Ellen mal podia suportar as curtas visitas que fazia a Washington, chegando a acreditar que sua presença lá prejudicava a carreira de Jeremy.
Quando Ellen estivera ausente, morando em Nova York, principalmente durante a sua segunda gravidez, Kitty dera jantares impecáveis para Jeremy, em sua casa de Georgetown. Até mesmo Jeremy se admirara do número de relações e de amigos de Kitty. Ela se dava ao trabalho de adulá-lo e de admirá-lo na presença dos outros, os quais, não fosse por isso, teriam sido afastados pelas suas “ideias esquisitas” e por sua brusquidão. Como a adulação e a admiração de Kitty por Jeremy eram sinceras, tendo ela o cuidado de evitar ser excessivamente obsequiosa e servil, até mesmo os senadores começaram a aprová-lo, embora com certa reserva. Por causa de Kitty (e isso também divertia Jeremy), era admitido em casas para as quais certamente não teria sido convidado, e ficava grato a ela por isso. Também Jeremy tinha ambições, não apenas para si próprio, como para seu país. Quando o Presidente Roosevelt a distinguiu, chamando-a de “Kitty”, Jeremy achou que a moça merecia que ele a cultivasse um pouco, nem que fosse por gratidão.
Depois do nascimento de Gabrielle, a saúde de Ellen ficou abalada durante vários meses, obrigando-a a passar esse tempo quase que inteiramente em Nova York, sob cuidados médicos. Jeremy estava muito ocupado em Washington, durante o craque, e Jochan era mandado para Nova York durante longos períodos, para cuidar dos negócios de Jeremy, lá. Kitty ficava secretamente encantada. Sabia tudo a respeito de Jeremy. Sabia que ele fora fiel à esposa durante os anos de casamento, com apenas um ou dois lapsos e, assim mesmo, passageiros. Não ignorava, tampouco, que Jeremy se sentia mais do que atraído por mulheres alegres e divertidas, e que sua virilidade e suas necessidades sexuais eram maiores do que as de muitos homens, apesar de ele ser exigente. Sabia, também, que Jeremy sentia gratidão por ela. Além do mais, adivinhara, pelo que Ellen lhe confiara timidamente, que as relações sexuais entre eles tinham sido proibidas pelos médicos até que Ellen se recuperasse totalmente. Sua alegria se tornou quase insuportável. Sua paixão por Jeremy era agora avassaladora. Tanto quanto podia amar alguém, ela amava Jeremy e vivia só para vê-lo e ouvi-lo.
O inevitável, é claro, aconteceu cinco meses depois de Gabrielle ter nascido e estando Ellen presa em Nova York, lânguida, sofrendo e muito fraca. Jochan também ficara em Nova York por causa dos negócios de Jeremy. Durante esses meses, Jeremy tivera um ou dois casos sem importância, em Washington, evitando cuidadosamente envolver-se com as esposas ou as filhas dos colegas. Não achava que estivesse traindo sua bem-amada Ellen, pois as mulheres nada significavam para ele, mal se lembrando dos nomes delas, quando se cansava das aventuras. Sabia que era um homem normal, que não podia dar o máximo no trabalho se estivesse insatisfeito sexualmente, não tendo sido abstinente desde a puberdade. Era um homem e as mulheres eram mulheres. Apreciava aqueles encontros agradáveis e nunca sentira remorso, pois jamais se envolvia com as mulheres com quem andava; sentia por elas apenas uma afeição passageira. Logo se cansava delas, também, e procurava variar. Nunca lhe passara pela cabeça que Ellen ficaria arrasada se soubesse de suas aventuras, pois a amava mais do que nunca e aquelas mulheres eram apenas substitutas necessárias até que ela estivesse bem de saúde. Além do mais, ele era um homem e Ellen era uma mulher. Ela não compreenderia, era o que Jeremy pensava, se é que pensava nisso. Como acontecia com todos os homens concupiscentes, a mulher era para ele uma necessidade que deveria ser satisfeita, tanto quanto a fome. Além do mais, observava que a maioria de seus colegas estava também interessada em aventuras. Ninguém levava isso a mal, contanto que fossem discretos.
Assim, Kitty se tornou sua amante, por acaso. Jeremy não se sentia muito atraído por ela, mas conhecia-a bem e Kitty o distraía. Era inteligente e divertida e punha-o a par dos mexericos da cidade; suas observações eram sagazes e vivas. Não o entediava, como acontecia com outras mulheres, mesmo antes de ele romper com elas. Era sempre interessante; seu espírito agudo fazia-o rir justamente nas ocasiões em que estava mais aborrecido com Washington. Desde mocinha, Kitty aprendera bem a arte de agradar. Transformara isto numa qualidade, que ganhava um brilho extra devido a seu amor por Jeremy.
Começou a esperar pelos jantares alegres que Kitty lhe oferecia, com todos os seus pratos favoritos e os vinhos que apreciava. Após um dia de frustrações e de cólera, no Congresso, Jeremy se sentia contente e relaxado em casa de Kitty e não achava que estivesse traindo seu amigo Jochan. Kitty lhe dera claramente a entender que ela e o marido nada tinham em comum.
— Somos apenas amigos — disse ela — e há muito tempo. É um relacionamento platônico... e ainda gosto muito de Jochan, mas de uma maneira fraternal.
Assim, do modo mais casual possível, Jeremy sempre se prevalecia dos convites de Kitty. Quando, na cama, ela ficava exaltada, murmurando-lhe palavras de amor, Jeremy julgava tratar-se apenas de amabilidade e de um êxtase passageiro. Ouvira a palavra “amor” um excessivo número de vezes, por parte de outras mulheres, para acreditar nas confissões sinceras de Kitty. Se Jeremy tivesse realmente acreditado que ela o amava desesperadamente, e somente a ele, nunca mais a teria procurado para se consolar e se divertir. Achava que, com exceção de Ellen, a maioria das mulheres usavam a palavra “amor” como uma senha alegre e como desculpa para os desmandos na cama. Era apenas uma exclamação elogiosa sob os lençóis, sem o menor significado. Jeremy percebia perfeitamente que Kitty sentia enorme atração por ele, mas estava convencido de que era apenas uma mulher leviana, com muitos casos secretos, tendo as mesmas necessidades físicas que ele. O caso duraria até Ellen ficar bem de saúde, era o que Jeremy dizia a si próprio. Kitty não sentiria por ele nenhum laço mais forte do que ele por ela, e ambos se separariam, felizes por uma aventura agradável, mas nada mais do que isso. Jeremy não prejudicava Jochan e nem Kitty prejudicava Ellen. Ele e a amante se divertiam temporariamente, apenas isso.
A moça, entretanto, estava empolgada por seu amor por Jeremy. Estava certa de que esse amor era correspondido e de que o caso se tornaria permanente. Qualquer outra solução lhe seria insuportável. “Pertencemos um ao outro”, era o que pensava, satisfeita. “Somos do mesmo tipo, querido Jeremy.” Satisfeita, começou a florescer e chegou mesmo a adquirir uma certa beleza. Sentia-se tão feliz, tão envolvida, que se tornou cada vez mais fascinante para seus amigos. Brilhava, literalmente, como nunca brilhara antes.
Capítulo 19
O presidente da Câmara levantou-se majestosamente e observou a fila de deputados. Sua aparência era severa e ameaçadora. “Ele parece um juiz pronto a pronunciar uma sentença de morte, com um prazer sádico, velado por uma piedade ameaçadora”, pensou Jeremy. Jamais admirara o presidente, que considerava uma fraude, sempre pronunciando aforismos coloridos de fervor evangélico e clamando por “Deus todo-poderoso”. Geralmente dava a impressão de que emergia de um longo e secreto colóquio com a divindade e frequentemente abaixava os olhos com humildade, como se estivesse ouvindo uma ordem divina dada somente a ele.
Era pequeno e magro, mas sua voz parecia a de um trombone e irreverentemente o chamavam de “Peidorreiro”. Vestia-se invariavelmente de preto, tanto no inverno como no verão, sempre com o mesmo tecido sem vida. Jeremy certa vez dissera a alguns de seus colegas:
— Se ele transpira, é pela bexiga.
Os colegas, divertidos, naturalmente informaram o presidente desse e de outros ditos espirituosos de Jeremy. O presidente, portanto, odiava Jeremy, com a capacidade de odiar de um hipócrita que se considera um homem de Deus e amante de seus irmãos.
Depois de pedir ordem à casa, o presidente ficou em silêncio, olhando para a estante à sua frente. Seu rosto enrugado tinha uma expressão solene e exprimia uma profunda tristeza com um misto de severa determinação. Sua voz retumbou na Câmara:
— Estamos hoje aqui reunidos para uma investigação preliminar de acusações feitas ao deputado da cidade de Nova York, Jeremy Nathaniel Porter. É indiscutivelmente nosso terrível dever, imposto pelas leis do país. Temos o poder, conferido tanto pela consciência como pela lei, de conduzir essa investigação e responder às exigências para que o dito congressista seja censurado, se não suspenso.
Jeremy reclinou-se na cadeira e sua expressão era de sombrio sarcasmo. Cruzou os braços no peito. Seus colegas, até mesmo seus poucos amigos, evitaram olhar para ele. Era um dia quente de maio, como só acontece em Washington, úmido, poeirento e insuportavelmente pesado. As janelas da Câmara estavam abertas; um céu quente ardia lá fora, onde tudo reluzia, desde os arreios dos cavalos até o próprio calçamento. Grandes ventiladores moviam-se no teto, perturbando enxames de moscas e levantando uma poeira dourada nos pontos onde batia o* sol. Os presentes enxugaram os rostos molhados e vermelhos; de vez em quando alguém se abanava e ouvia-se um farfalhar de papel. Os que eram a favor de Jeremy, muito poucos, se sentiam irritados com ele por serem obrigados a ficar ali fechados e estavam ansiosos para ir para casa, para um lugar mais fresco, para descansar em seus jardins ou dormir com as amantes. O presidente continuou:
— O Deputado Porter, da cidade de Nova York, tem criticado este Congresso, ao falar à imprensa. Seria indigno do meu cargo, como presidente da casa, repetir os boatos, falsos, as acusações diretas e as calúnias que o Deputado Porter tem i moderadamente feito à imprensa, sem consideração pela verdade ou pela cortesia devida a seus colegas, que, em certa ocasião, ele classificou de “comprados” (a essa altura o presidente limpou a garganta e abaixou tristemente o tom de voz), assim como de “prostitutas, ou chacais que não reconhecem um bandido nem mesmo quando se veem com um revólver apontado para suas cabeças, nem reconhecem os conspiradores contra o povo dos Estados Unidos”. Essas são as mais brandas de suas acusações, feitas à imprensa marrom. Nenhum jornal com decoro ou respeito repetiria tais acusações. Nós as ignoraríamos, se não tivessem sido captadas por vários jornais irresponsáveis de todo o país e se não tivessem feito com que os descontentes se reunissem em lugares públicos para discuti-las.
Ele fez uma pausa e continuou:
— O Deputado Porter também desacatou o presidente dos Estados Unidos, insinuando que ele é um instrumento daquilo que o congressista Porter chama de “conspiradores internacionais que estão dispostos a subjugar todo o mundo civilizado a seus propósitos elitistas”. Chegou a dizer que nenhum presidente dos últimos tempos foi eleito sem o conselho e o consentimento dos chamados conspiradores, e que nenhum será eleito no futuro sem a aprovação desse grupo anônimo. Acusou o augusto Senado, também, e este finalmente resolveu protestar abertamente.
Continuou, após uma ligeira pausa:
— Todos os cavalheiros responsáveis, aqui presentes, ouviram essas coisas, até o ponto de sentir náuseas. Nossa sensação de ultraje, portanto, foi além de nossa paciência cristã, de nossa reserva legislativa, de nossa honra como cavalheiros escolhidos pelo grande povo dos Estados Unidos para representá-lo nesta Câmara. Assim sendo, antes que iniciemos nossas discussões (há recortes de seus discursos e suas deblaterações nas mesas diante dos senhores), permitiremos, em espírito de justiça, que o Deputado Porter nos dê uma explicação de sua conduta, que despertou a indignação de homens ponderados, em toda a nação.
Jeremy murmurou, por entre dentes, algo obsceno; vários deputados perto dele não puderam deixar de sorrir, embora continuassem a olhar com ar grave para o presidente. Por várias razoes, nenhum espectador tivera permissão de ocupar as galerias.
Jeremy levantou-se languidamente, falando alto e claramente, expressando indiferença.
— Uma questão de ordem, com permissão do presidente desta casa. Este Congresso está em sessão solene?
O presidente hesitou. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Depois, o presidente disse:
— Não como geralmente a consideramos, Deputado Por-ter. Esta é apenas uma discussão preliminar sobre as acusações feitas contra o senhor e para permitir que as negue ou as confirme.
— Oh, não é necessário que haja discussão sobre isso — replicou Jeremy. — Reafirmo minhas declarações, cada palavra. O único mal é que a imprensa não citou totalmente o que eu disse e suavizou vários adjetivos, provavelmente para poupar o pudor público. Eu disse à imprensa que me tinha demitido tanto da Sociedade Scardo, como do Comitê para Estudos Estrangeiros, porque não posso mais calar-me. Fiquei sabendo de tudo o que precisava saber, neste ano de 1908 e no meio do craque que permanece. Os eleitores, este ano, escolherão novamente um presidente. Acredito ser meu dever, como cidadão deste país, informar tantas pessoas quantas for possível, para que possam julgar quem são seus inimigos. Embora só Deus saiba que talvez seja tarde demais. É esse o meu receio.
O silêncio na sala se tornou mais profundo. Havia ali uma atmosfera de total concentração e alguns movimentos ocultos de alerta. Jeremy falara em voz calma, quase indiferente, quase casual, mas apesar disso tivera poder e convicção e uma nota de desesperada amargura. Ele continuou:
— Conforme o eminente presidente desta casa os informou, os senhores têm à frente, em suas mesas, parte do material que dei à imprensa e sobre o qual já me ouviram falar. Sem dúvida têm conhecimento do que eu disse pelo rádio. Não há necessidade, neste momento, de eu repetir cada detalhe, cada sentença, cada grave acusação que fiz. Arrisquei-me não somente em relação a este Congresso, mas em relação aos homens frios, mas violentos, que estão decididos a destruir a existente ordem de coisas entre as nações; depois, quando houver o caos, eles serão os Homens a Cavalo, os monstruosos ditadores que desejam ser. Não é apenas a ambição do poder que os incita. É também seu ódio inato pela humanidade, seu desejo de oprimir e delegar a seus filhos e aos filhos de seus filhos essa mesma regra de morte e de opressão. Eles acreditam que são mais inteligentes do que o homem comum e superiores em nascimento e talento. Enquanto tagarelam sobre o igualitarismo, para servir a seus desígnios, detestam a igualdade dos homens até mesmo sob a lei, conforme foi promulgada pela nossa Constituição. Falam de justiça social e até mesmo de populismo e insistem num imposto de renda federal para “redistribuir a riqueza”, a fim de “abolir a pobreza” e beneficiar o “trabalhador”. Não é paradoxo o fato de eles mesmos serem homens imensamente ricos.
Jeremy continuou:
— Eles sabem muito bem, e também creio nisso, que, conforme disse Lorde Acton, “o poder de taxar é o poder de destruir”. É por esse motivo que estão trabalhando para uma décima sexta emenda à Constituição, um imposto federal que, repetidamente, tem sido declarado inconstitucional na Corte Suprema dos Estados Unidos. O desejo desses homens é eliminar a ascensão da classe média em todo o mundo, porque a classe média é a maior adversária deles e a que frustra seus desejos de subjugar todos os homens. Se a classe média for taxada e posta fora de combate, as massas não terão defensor e se tornarão escravas dóceis e silenciosas dos elitistas. É assim simples. É por isso que esses homens estão “informando” as classes trabalhadoras do mundo de que a burguesia é que é a opressora, despertando a inveja e o ódio do proletariado contra seus próprios amigos.
Após uma ligeira pausa, Jeremy prosseguiu:
— Não é uma trama muito complicada. Lúcio Sérgio Catilina, da Roma antiga, tentou fazer isso, porque detestava o povo comum e mais ainda a classe média que começava a se elevar. Ele queria o poder e a oportunidade de dominar o povo da República com total autoridade, para atenuar seu ódio maligno por esse povo. Felizmente Roma tinha Marco Túlio Cícero, o cônsul de Roma, para manter a lei e a ordem, a justiça e a liberdade dos romanos. Pelo menos por algum tempo. Infelizmente, entretanto, o mal é muito mais forte do que o bem, apesar do que dizem os boatos e, lamentavelmente, a República romana foi logo destruída e surgiu o cesarismo, sendo suspensos os direitos dos romanos e até mesmo os homens livres sendo escravizados. A classe média de Roma foi eliminada. Não há motivo, agora, para conjeturarmos sobre o que aconteceu com a República quando a classe média foi taxada mortalmente e Roma reduzida ao despotismo e ao cesarismo. Tenho certeza de que todos os senhores... — aqui Jeremy lançou um olhar sardônico aos seus pares — conhecem a história.
Os ventiladores no alto fizeram o calor espalhar-se, aumentando-o. Os deputados olharam para os papéis nas mesas à sua frente e alguns leram-nos movendo silenciosamente a boca; outros coçaram o rosto ou molharam os lábios. Muitos ficaram com expressão vazia. Mas, então, alguns viraram a cabeça e fitaram Jeremy com um misto de admiração, respeito e total conhecimento. Eram muito poucos. O presidente examinou suas mãos com ar devoto.
Jeremy recomeçou, com sua voz calma e enfática:
— Este craque que ainda estamos sofrendo, para desespero do povo, não passa de um consternador movimento dos conspiradores. Seu objetivo é outra emenda à Constituição: o chamado Sistema de Reserva Federal, que porá nas mãos deles o controle do dinheiro do país. Desse modo eles poderão manipular as finanças. Dirão ao povo que, se a emenda for aprovada, será o fim dos craques nacionais. Sob tudo isso existe a determinação daqueles homens de pôr a América fora do padrão-ouro e colocar o ouro em suas próprias mãos. Assim que nosso dinheiro não tiver o ouro como lastro, eles terão um poder absoluto, através de seus banqueiros, para controlar não somente nosso dinheiro, como o próprio povo. Sim, cavalheiros, ouvi-os dizer isso mesmo, em suas reuniões secretas.
Jeremy continuou:
— Há apenas dois anos, um dos mais poderosos banqueiros da América, Jacob Schiff, disse que, se nosso sistema monetário não fosse reformado através de um Sistema de Reserva Federal (notem isso), a América teria um “craque que faria com que, comparados a ele, os três que o precederam pareceriam um brinquedo de crianças”. O Sr. Schiff é um dos banqueiros influentes que desejam um Sistema de Reserva Federal. Será preciso dizer mais? Durante meses, antes do craque, o dinheiro para comprar a termo, na Bolsa, oscilou entre dez e cento e vinte e cinco por cento. O Sr. Schiff disse: “Isso é uma vergonha para uma comunidade civilizada”. Ele tem razão. Mas quem inventou essas porcentagens excessivas? O Sr. Schiff, entre muitos outros, conhece a resposta e eu também.
O presidente levantou-se e disse, em voz alta e estridente:
— O Sr. Schiff é um americano respeitado, grande patriota, preocupado com seu país!
— Realmente — replicou Jeremy. — Citando Marco Antônio de Shakespeare: “Não são todos eles homens honrados?” Sim, claro.
O presidente esboçou um protesto e sentou-se em seguida. Relanceando o olhar para todos os deputados, perguntou:
— Como é que Shakespeare entrou nesta discussão?
Ninguém riu, mas a maioria dos deputados inclinou sabiamente a cabeça, concordando com ar divertido, embora alguns deles jamais tivessem ouvido falar de Marco Antônio.
Depois que acabaram os sorrisos, Jeremy continuou, agora de novo com amargura e desprezo:
— Os conspiradores, os detentores de tremendas fortunas, os empresários selvagens, os controladores do poder financeiro em todo o mundo, os grandes industriais de todas as partes recrutaram um exército avançado para enganar e despertar os invejosos: os pseudo-intelectuais, homens fracos, sem fibra, que reconhecem a própria inferioridade e detestam a força e o vigor dos outros. São impelidos por um desejo de vingança para com os mais inteligentes e mais eficientes e também eles aspiram ao poder. São fabianos, todos eles, e expressam sua admiração por Karl Marx e por sua Liga de Homens Justos. São todos pelo povo... o qual, secretamente, eles odeiam e desprezam. Não os menosprezem, senhores!
Jeremy prosseguiu:
— Os pseudo-intelectuais substituíram por ideologias loucas as abstrações calmas e filosóficas dos verdadeiros intelectuais, que são a marca dos homens civilizados e que criaram a arte e a religião. A ideologia deles está incubando revoluções e desordens públicas, guerras e massacres, ódio e destruição. Logo veremos os resultados numa guerra devastadora, mundial, que foi planejada para derrubar os governos existentes e regulares.
Ouviu-se um grito:
— Que guerra? Guerra! Ridículo! Que quer dizer com isso?
Muitos ficaram vermelhos de cólera e de incredulidade. Jeremy esperou que os colegas se acalmassem, até que o último murmúrio de “Guerra!” morresse.
— Os pseudo-intelectuais são muito eficientes, a serviço de seus senhores. O verdadeiro intelectual os ignora como radicais, e aí está o nosso grande perigo. O verdadeiro intelectual evita controvérsias e disputas públicas, ao passo que seus pseudo-irmãos bajulam a imprensa. São muito barulhentos e veementes; esbravejam e declamam; a imprensa os acha brilhantes. Eles se baseiam no fato de que nenhum político jamais diz ou ousa dizer a verdade à imprensa. Os senhores demonstraram não acreditar numa próxima guerra. Mas eu lhes digo que logo haverá uma guerra mundial. Ouvi-a sendo planejada e ouvi conjeturas sobre quem será o inimigo. Eles ainda não estão certos se será a Rússia (ainda imune ao comunismo socialista) ou a Alemanha. A França e o império britânico foram discutidos, na minha presença. Eles logo decidirão. Para os conspiradores, tanto faz.
Jeremy prosseguiu:
— Em primeiro lugar, dizem eles, a Rússia precisa ser tomada pelo marxismo e este está caminhando a passos largos. Quando o mundo for devastado pela guerra, os comunistas russos tomarão conta do poder. Há, entre os senhores, alguns que mais tarde dirão que o comunismo é o inimigo dos empresários, dos banqueiros e dos capitalistas. Apesar disso, estarão enganados. Os conspiradores são o poder atrás do comunismo, como os senhores verão mais tarde. Os comunistas serão financiados pelos banqueiros internacionais e por seus aliados, e serão aclamados por nossos pseudo-intelectuais, que já estão inventando slogans astuciosamente coloridos de humanitarismo. Não posso realmente dizer que os pseudo-intelectuais sejam uma parte importante da conspiração. São estúpidos demais. É por isso que estão sendo recrutados.
Jeremy continuou:
— Se eu lhes disser que William Jennings Bryan e outros populistas fazem parte da conspiração, estaria enganado. Eles são inocentes demais, ingênuos demais sobre a natureza humana (e tolos demais) para ser conspiradores. Mas estão sendo manipulados por nossos inimigos.
Após uma ligeira pausa, Jeremy prosseguiu:
— Digo-lhes, senhores, que o Apocalipse está sobre nós e daqui por diante não haverá paz neste mundo atormentado; haverá apenas uma série programada e sistemática de guerras e calamidades... até que os conspiradores tenham atingido seu objetivo: um mundo exausto, desejoso de submeter-se a uma economia marxista planejada e a uma escravidão total e submissa... em nome da paz.
Jeremy deixou que se fizesse um silêncio impressionante. Alguns dos deputados, mesmo naquele dia quente, sentiram
um calafrio e um pressentimento de desastre. Depois Jeremy continuou, em voz baixa, mas impressionante:
— Para mim, senhores, e para os que pensam como eu (que infelizmente são poucos), vou citar Josiah Quincy: “Por Deus, estamos decididos a, seja onde, quando e como formos chamados a efetuar nossa retirada, morrer como homens livres”.
De novo Jeremy deixou que houvesse uma pausa. Depois, citou:
— “Ave, César! Nós, que vamos morrer, te saudamos!”
Em seguida, sem permissão do presidente e sem mais uma palavra, virou-se e saiu da sala.
Não foi repreendido nem suspenso, apesar de sua surpresa e uma certa esperança, mas também não foi mais citado pela imprensa. Isso não o surpreendeu. A imprensa era impotente diante dos conspiradores. Jeremy foi silenciado eficazmente. Não foi reeleito em novembro. Mas Francis Porter foi eleito e Jeremy também não ficou admirado com isso.
Capítulo 20
Havia ocasiões em que Jeremy sentia que sua esposa, Ellen, era o protótipo da América, sem malícia, ingênua e pronta a não acreditar no mal e nos conspiradores, incapaz de achar que o homem era imperfeito, destruidor e malicioso. O culto de Rousseau não era apenas exagerado no meio de inocentes como Ellen, mas invadira as crenças declaradas dos pseudo-intelectuais, isto é, que o homem nasceu bom e é estragado apenas pela “sociedade”.
Cínico e desconfiado das religiões organizadas, Jeremy pôs-se a refletir sobre um ser superior e começou mesmo a ler a Bíblia. Chegou a descobrir verdades indiscutíveis, imutáveis e pertinentes à vida contemporânea. Descobriu também, com satisfação, que a Bíblia não era composta inteiramente de doçura e de luz, mas cheia de cólera, de avisos, de coisas terríveis e de condenações. O mundo estava cheio não somente da grandeza de Deus, como também de Sua cólera inevitável.
Ele lera, em algum lugar: “Nosso Deus é uma fortaleza poderosa!” Mas, se a fortaleza era minada por uma maldade deliberada, quem poderia salvar os habitantes dessa fortaleza? Ele lia repetidamente na Bíblia que Deus sempre triunfaria. Mas Deus era contado por séculos, ao passo que o homem mortal era contado por horas e dias. A atual miséria do homem mal era aliviada por uma possível vitória no futuro longínquo. Os homens tinham que suportar um contínuo desespero e poucos se sentiam aliviados com o sucesso final de gerações vindouras. O homem vivia na hora presente e seus apetites e terrores lhe eram mais pertinentes do que a conquista remota do mal por aqueles que ainda estavam por nascer. Havia poucos santos com uma visão universal. Milhões de homens potencialmente bons, e santos, se viam oprimidos pela maldade atual e sofriam com isso. Então, faziam concessões, confortados por uma esperança espúria e pela crença meretrícia de que a vida era curta demais para que se pegasse em armas e se lutasse.
Jeremy procurava esclarecer Ellen, sem torná-la tão cínica e desiludida quanto ele nem tão mundana como Kitty Wilder. Era inútil. Embora ela ainda estivesse recebendo ensinamentos, sua inocência inata a impedia de compreender completamente as exortações do marido. Jeremy estava de novo convencido de que os inocentes se interpunham entre o homem e sua vitória sobre o mal.
— Mas Cristo era inocente e bom e sem mácula — disse Ellen.
— Você se esquece de que ele expulsou os vendilhões do templo, querida, e castigou os exigentes fariseus, assim como os escribas. Esquece-se também das revelações de São João.
A isso, Ellen replicou, com um sorriso:
— Estou muito contente, querido, por ver que você começou a estudar a Bíblia.
Isso apenas aumentou a sensação de impotência de Jeremy, assim como seu medo do futuro, caso ele viesse a morrer antes da esposa. Consultou seus testamenteiros, Charles Godfrey e Walter Porter. Walter ficou consternado por ver que seu filho era agora um congressista e constantemente citado, com aprovação, pela imprensa.
Jeremy ficou agradavelmente surpreso ao ver que seu escritório de advocacia não sofrerá com sua derrota política. Jochan Wilder, aliviado por não mais residir em Washington, estava se mostrando cada vez mais competente, embora Kitty tivesse ficado desolada por deixar seus amigos na capital. Em todo caso, estava satisfeita com o salário cada vez maior do marido, pago por Jeremy. Receava que, saindo de Washington, Jeremy a abandonasse. Mas ele, cada vez mais farto da credulidade de Ellen (embora isso não afetasse seu amor por ela), ainda achava uma graça um tanto cética na companhia de Kitty. Ela era como um vinho ácido, em contraste com Ellen, doce como mel. Ainda não gostava de Kitty, mas sua companhia era um alívio.
Jeremy não ficou nada surpreendido quando o Parlamento britânico manifestou suas “preocupações” a respeito da contínua intromissão da Alemanha em “nosso domínio no comércio internacional até agora não desafiado”. “Então a Alemanha é que vai ser nossa adversária”, pensou Jeremy. A Alemanha, aparentemente, também estava preocupada, mas por uma razão completamente diferente. O cáiser começara a expandir seu exército e sua cavalaria. A imprensa chamava a isso “súbita atividade bélica da Alemanha”. Com uma nova atitude fatalista, Jeremy achou que os conspiradores estavam agindo. Quando leu que a Rússia estava perseguindo severamente os comunistas e exilara Lênin, e que a imprensa mundial considerava isso “inescrupuloso”, soube que o fim estava próximo.
Mas a América estava de novo exuberante. William Howard Taft fora eleito. Os pronunciamentos do novo presidente sobre uma “paz maior e uma prosperidade crescente” eram frequentemente citados na imprensa. O craque passara. Jeremy tinha grande respeito pelo Presidente Taft, um homem sensato, apoiado por Theodore Roosevelt, mas Taft era cordato e disposto a conciliações, e Jeremy desconfiava disso. Quando Taft discretamente expressou sua aprovação ao imposto de renda federal, à eleição direta dos senadores e ao Sistema de Reserva Federal, Jeremy juntou-se ao Partido Democrata, mais conservador, que acusava Taft de ser um whig.
No dia 3 de junho de 1911, May Watson escreveu à sua sobrinha Ellen:
“Faz seis meses que você me visitou aqui em Wheatfield, Ellen, e há duas semanas não recebo uma carta sua. Pensei que me ouviria, em dezembro passado, quando lhe disse como você não tinha consideração com os outros, sempre pensando apenas em si mesma. Detesto ter que tocar de novo no assunto, tão tarde, mas você foi muito pouco delicada com a minha querida
Sra. Eccles, que é como uma irmã para mim. Você mal lhe dirigiu a palavra, embora a Sra. Eccles, amavelmente, a convidasse a se hospedar em sua casa. Mas, não, você ficou no hotel com aquela sua criada horrível, Clarisse. Que nome pagão! Pois bem, a Sra. Eccles ainda está sentida. Ela me arranjou uma nova enfermeira, há uma semana, uma muito boa, agora, diferente daquela que seu marido Jeremy contratou! Ele também não pensa em mim. A enfermeira que ele tratou era insolente com a Sra. Eccles e se recusava a ajudar na casa durante algumas horas por dia. Aqui estou eu, um fardo para a Sra. Eccles, embora ela jamais se queixe, sendo uma cristã boa e paciente. É a personificação da doçura. A nova enfermeira ajuda nos serviços caseiros, que é como deve ser. Peço-lhe o favor de me mandar dez dólares, porque estou precisando de uns xales novos. E acho que seu marido deveria pagar mais à Sra. Eccles. Diga-lhe isso.
Suas cartas, Ellen, só falam de seu marido e de seus filhos, embora você saiba o quanto estou sofrendo e que preciso de que me alegrem. Creio, entretanto, que não há nada que eu possa dizer para fazer com que você se preocupe comigo ou ligue para mais alguma coisa, a não ser suas festas, suas roupas e sua família. Quando me lembro do quanto poderíamos ambas ser felizes, agora, seguras em Wheatfield, nesta bela casa, começo a chorar.”
As cartas de May invariavelmente deixavam Ellen triste. Ela não mais as mostrava a Jeremy, que se encolerizava ao lê-las. Ele parecia culpar a esposa por isso. Certa vez, disse:
— Por que diabo, Ellen, você não escreve para aquela velha... quero dizer, sua tia... e não tenta enfiar um pouco de juízo na cabeça dela? Diga-lhe algumas verdades, que estou pagando regiamente para ela viver com a Sra. Eccles, em Wheatfield, pagando a enfermeira, e em que diabo de lugar estaria ela agora, se você não se tivesse casado comigo? No asilo, ou morta. Você pode lembrar-lhe, também, que estou pagando as contas de médico e outras coisas. Pelo amor de Deus, não chore! Já que estamos falando desse assunto, quero que você pare de ser a protetora dessas suas instituições de caridade, cujo número está aumentando. Sim, sim, sei que são Pobres, com maiúscula, como você diz, mas de um maldito modo você sempre escolhe, para fazer caridade, uns malandros que não querem trabalhar e que acham que o mundo deve sustentá-los, só pelo fato de terem nascido. Francamente! De onde eles vêm é o que só Deus sabe! Limite-se, se possível, a ajudar o Exército de Salvação e outras instituições religiosas, que auxiliam os outros, mas esperam que eles também se ajudem. Ellen, se você não parar de chorar, irei para o meu clube, hoje à noite.
Ellen, então, mandou dez dólares à tia, às escondidas, do dinheiro da casa, fazendo o mesmo para mandar mais cinco dólares por semana para a Sra. Eccles, “para cuidar de minha tia”. Confiou tudo a Annie Burton, a pajem das crianças, que replicou com franqueza:
— Sra. Porter, como eu sempre disse, a senhora é um anjo e maravilhosa, mas às vezes acho...
— Acha o quê, Annie?
— Pois bem, a senhora sabe e isso me preocupa.
— Annie, eu não poderia viver, se acreditasse em tudo o que você diz sobre as pessoas. É verdade, eu não suportaria a vida. Qual a razão de viver, então?
“Não vejo nenhuma ‘razão’ para viver”, pensou Annie. “Uma pessoa precisa cuidar de si mesma, porque ninguém mais o faz e, quanto mais se confia nos outros, mais eles acham que somos tolos.” Annie sabia de tudo a respeito de Kitty Wilder, e o mesmo acontecia com o resto da criadagem. Annie rezava para que Ellen nunca viesse a ter conhecimento do fato.
Certa vez, num assomo de desespero, Annie disse a Cuthbert:
— Sr. Cuthbert, se é que algum dia eu tive religião, a Sra. Porter me curou disso! Será que as pessoas nunca compreendem... compreendem...
— Que corrompem os outros, Annie? Sim. É muito bom ajudar as pessoas que merecem auxílio e ajudá-las com prudência. Mas um humanitarismo impensado é um grande desserviço, não apenas para nós, mas também para as pessoas que o recebem. A generosidade e a caridade são virtudes exemplares, sem a menor dúvida. Mas precisaríamos também usar o bom senso e ter certeza de que aqueles que são ajudados merecem essa ajuda e têm coragem e respeito próprio, e logo poderão ficar de pé. Ajudar os indignos, os queixosos e os preguiçosos é corrompê-los irremediavelmente e escravizá-los à sua própria natureza má. A Sra. Porter, entretanto, é uma das pessoas que, infelizmente, jamais compreenderá isso. — Ele fez uma pausa, uniu as sobrancelhas e esfregou os cotovelos reumáticos. — Certa vez, quando eu trabalhava para uma senhora muito boa, ouvi-a dizer a seu filho que todos nós nascemos para ajudar “os outros”. O menino perguntou-lhe: “E quando estamos ajudando os outros, que é que eles estão fazendo?” A mãe refletiu e respondeu: “Eles também estão ajudando os outros”. As crianças têm, frequentemente, muita sabedoria. O menino replicou: “Não seria melhor para todo mundo se cada um ajudasse a si próprio, em vez de esperar que os outros o ajudem?” — Cuthbert riu roucamente ao dizer isso.
— E que foi que a mãe respondeu? — perguntou Annie.
— Sinto dizer que ela castigou o filho e disse que ele não era cristão. Sempre tive medo de que ela acabasse por corrompê-lo, também.
— Pois bem, a Sra. Porter jamais corromperá Christian e Gabrielle — replicou Annie. — Eles nasceram uns demônios sem coração e riem da mãe, nas costas dela. Acham que é uma tola. — Annie abriu os braços, em gesto desanimado, e continuou, quase chorando: — Às vezes também acho isso! Eles têm melhor opinião daquela horrível Sra. Wilder do que da própria mãe. As pessoas malvadas parecem compreender-se mutuamente, não é mesmo? Aquelas crianças são realmente más, Sr. Cuthbert, e, se eu não lhes desse uns bons tapas de vez em quando, ainda seriam piores. Pelo menos não se atrevem a rir de madame na cara dela. Eu os preveni.
— O patrão também tem a mão dura e pronta — disse Cuthbert, com ar aprovador. — Nada de tolices, por parte dele. Às vezes acho que todo aquele amor que madame dá indiscriminadamente aos filhos ajudou a estragá-los. É realmente muito triste.
Ellen não sabia que isso era “triste”. Ela agora acreditava, feliz, que seus filhos nunca fariam mal ao pai. Pareciam dedicados a Jeremy, competindo para ver qual dos dois lhe agradaria mais, apesar da severidade de Jeremy e de sua insistência em que tivessem boas maneiras e disciplina. Com ele, jamais gritavam, como gritavam com a mãe, nem ousavam discutir uma ordem sua. Ouviam-no com respeito e franca afeição, respeito e afeição que não manifestavam a Ellen. Só muito mais tarde é que ela viria a saber que Christian, aos oito anos de idade, dissera a Kitty: “Mamãe é muito estúpida, não é?” Ou saberia que Gabrielle, então com seis anos, dera uma risadinha e dissera: “Mamãe é maluca. Todo mundo sabe disso. Ninguém dá atenção a ela”.
Para Ellen, a insolência declarada dos filhos era apenas “vivacidade” e a desobediência significava “independência”. Pois aqueles novos psiquiatras não recomendavam aos pais que não castigassem severamente os filhos, e sim que os cumulassem de amor? Jeremy ria deles e ficava imaginando por que não voltavam para Viena, deixando os pais americanos em paz. Dizia a Ellen:
— Os americanos estão começando a dar ouvidos, humildemente, a todos os charlatães estrangeiros que os insultam. Acho que os americanos estão começando a se sentir culpados pela sorte que têm, que é apenas o resultado do valor deles.
Ellen não compreendera por que motivo de repente ele a fitara com severidade e não com a habitual ternura. Sacudira a cabeça. Se se lembrava das crianças cruéis de sua infância, era para pensar que tinham sido “infelizes”, talvez devido à pobreza. Isso explicava a caridade impensada e a indubitável generosidade de Ellen.
Ela vivia feliz a sua vida, protegida por Jeremy, Cuthbert e Annie e, agora, por Charles Godfrey, que frequentemente jantava em casa de Jeremy e tinha um jeito de olhá-la que a deixava embaraçada e contente ao mesmo tempo, embora não pudesse explicar por quê. Godfrey sempre falava com ela suavemente, mesmo quando Jeremy expressava sua impaciência ante alguma observação da esposa. Nunca ocorrera a Ellen que Charles tinha pena dela e a amava ao mesmo tempo, tendo também medo por ela.
A beleza de Ellen amadurecera. Um tanto tolamente, Charles achava que ela parecia uma rosa. Mas ele não era um poeta original. Não era um poeta de forma alguma. Sabia apenas que amava aquela mulher imaculada e encantadora. Sabia também que ela não tinha amigos, exceto ele e os criados. E, naturalmente, Jeremy e o tio Walter.
Embora Jeremy prezasse a esposa cada vez mais, agora raramente lhe falava das coisas que o preocupavam e o estavam levando ao desespero. A felicidade de Ellen toldara a luz de sua compreensão e de sua percepção. Jeremy achava que uma felicidade prolongada podia, de certo modo, ser uma inimiga. Deixava a pessoa vulnerável a um ataque direto. Precisamos de vez em quando de um pouco de infelicidade, assim como a carne precisa de sal, ou as nações precisam de armas. As crises agudas dão pungência a uma existência calma e iluminada e as nações precisam saber defender-se.
Capítulo 21
Em janeiro de 1912, a mãe de Jeremy lhe escreveu, conforme fazia uma vez por semana. As cartas dela, assim como as do pai, impacientavam Jeremy e o deprimiam, pois sempre havia uma insinuação disfarçada sobre Ellen, apesar de escreverem: “Lembranças a Ellen, também, e aos bebês”. (“Bebês, francamente!”, pensava Jeremy: “Um tem oito anos; a menina, seis.”) Agnes, sua mãe, escreveu:
“Tenho lido muita coisa, ultimamente, em The Times e em outros jornais a respeito de seu primo Francis, de quem jamais gostei, mas que parece ter progredido nestes últimos anos. Ele tem tanta pena do povo e é tão eloquente! Li seus últimos discursos, no Congresso, com atenção... que coração ele tem! Estão até insinuando que a legislatura do Estado de Nova York irá nomeá-lo senador!”
“Deus de piedade”, pensou Jeremy. “Francis e outros de seu tipo sabem falar sem parar no Congresso, no Senado, em outras situações políticas, em seus colégios e aos jornais. São uns pretensiosos... Jamais calam a boca.”
A carta da mãe de Jeremy continuava:
“Ah, se as mulheres pudessem votar! Francis é a favor do voto feminino. Acha que haveria uma maravilhosa mudança na América, se pudéssemos votar. Não haveria mais guerras, nem levantes nacionais, nem desemprego, nem miséria. As crianças seriam bem tratadas e as mulheres seriam elevadas na sociedade. O futuro seria tranquilo e todo mundo feliz. Isso, com as ideias de homens nobres como Francis e suas novas leis, faria com que realmente chegasse a Era Dourada”.
Jeremy suspirou, cansado, e fechou por um momento os olhos. Estava na biblioteca de sua casa, naquele frio dia de inverno. A carta continuava:
“Francis espera ardentemente que o Sr. Roosevelt seja eleito, este ano, e que o Sr. Taft seja derrotado. Como você sabe, o Sr. Taft foi muito ingrato com o Sr. Roosevelt, que foi o verdadeiro responsável pela sua eleição à presidência. (Você vê, Jeremy, eu leio e não sou uma mulher estúpida, como você sempre achou que as mulheres são.) Não censuro o Sr. Roosevelt por ter-se recusado a visitar o Sr. Taft na Casa Branca. Houve realmente uma ingratidão por parte do Sr. Taft e, conforme disse o Sr. Roosevelt, ele é culpado ‘da mais grosseira e surpreendente hipocrisia’, assim como de deslealdade.
Francis acha que precisamos de um homem lutador como presidente e, portanto, apoiará o Sr. Roosevelt. Não foi maravilhoso o que o Sr. Roosevelt disse, ultimamente? ‘Sou a favor de um tratamento justo para o povo de nosso país. Entrei na luta para valer. Estou disposto a ir até o fim!’ (Uma frase um tanto indelicada, creio eu, mas ele é um homem corajoso e a gente sabe como os homens falam quando estão empolgados.)
Francis diz que precisamos esperar para ver quem é que os democratas vão indicar. Ele fala muito num Professor Wilson... Richard? Woodrow? A gente nunca sabe esses nomes, embora isso não seja importante. Francis diz que o Sr. Wilson é também um homem compassivo que fala de um mundo de paz, de justiça e de prosperidade.”
Jeremy refletiu sobre o que Thoreau escrevera: “De que adiantam o arado e a vela, a terra e a vida, se não houver liberdade?” Pensou em seus filhos, que viveriam no futuro. Encolheu os ombros. Parafraseando Cristo, disse de si para si: “A cada dia basta a sua geração”. A carta de Agnes Porter continuava:
“Se ao menos você tivesse sido mais discreto, querido Jeremy, e voltado ao Congresso! Como teríamos ficado orgulhosos! Mas não, você hostilizou o seu eleitorado, com suas maneiras francas e rudes, e granjeou inimigos. Sempre foi um menino difícil; suas professoras não gostavam de você. Estava sempre discutindo, argumentando contra aquilo que, mesmo quando tinha dez anos de idade, chamava de ‘doçura e luz’. Detesto elogiar Francis, mas ele está mais ligado ao povo do que você jamais esteve, querido”.
Jeremy pensou: “Esse é o maior elogio que você jamais me fez, querida mamãe”. Continuou a ler a carta:
“Desejo, querido filho, que você agora pare de escrever artigos para as revistas e os jornais que Francis chama de ‘reacionários’. Isso apenas fará com que arranje mais inimigos. Leio estes artigos e seu pai e eu ficamos muitas vezes consternados com eles. Parece que você simplesmente não tem caridade nem esperança, e suas palavras são amargas e ofensivas. Afinal de contas, não vivemos mais na era de McKinley. Estamos progredindo”.
Jeremy refletiu: “Claro que estamos”.
“Chega de política”, continuava a carta. “Ficamos muito sentidos porque você e Ellen e os queridos bebês não vieram a Preston para os feriados. Será porque Ellen não nos ama suficientemente e o influenciou? Espero que não. Nenhuma mulher deveria influenciar o marido contra seus pais dedicados e nem magoá-los. Há muito tempo que desconfio que Ellen não está de acordo com seu pai e sua mãe, Jeremy, embora tenhamos sido bons e a aceitado na família. Você não poderia vir sozinho, com seus filhos adoráveis, se Ellen se recusar a vir? Francis esteve aqui com o pai e a Sra. Eccles. A Sra. Eccles é uma ótima pessoa e só fala bem de Ellen, e como é dedicada à tia de Ellen, em Wheatfield! Que caridade!”
Jeremy pensou: “Trinta dólares por semana e enfermeiras. A caridade custa caro, hoje em dia”. Continuou lendo:
“A Sra. Eccles, de quem você não gosta, conforme observei, sempre defende Ellen”.
Jeremy levantou-se e puxou com cuidado as pesadas cortinas da janela da biblioteca. “Estou vendo sombras”, pensou. “Aquele ‘vadio’ do outro lado da rua deve estar apenas esperando por alguém.” Voltou à carta da mãe:
“Nosso único filho! E ele não vem para casa no Natal, nem no Ano-Novo! Quem é que o separou de seus pais amorosos? Quem o tornou indiferente a eles?”
Jeremy lembrou-se de que Ellen implorara-lhe para irem visitar os pais dele nos feriados. Ele recusara bruscamente. Soubera que Francis estaria lá e não tinha estômago para esse encontro. Não tinha saúde para aguentar Francis e a Sra. Eccles! Além do mais, comprometera-se a escrever artigos para o The New York Times e várias outras revistas, sem falar nas suas causas importantes, que seriam decididas no tribunal.
Seus pais tinham mandado presentes caros para as crianças e para ele. Para Ellen tinham enviado quatro lenços de linho, com os quais ela ficara pateticamente encantada. Jeremy cerrou os dentes. Quando é que Ellen deixaria de mostrar-se grata pelo menor sinal de consideração, como se não merecesse nem mesmo ser notada? Jeremy olhou para o telefone. Pegou-o e ligou para Kitty Wilder.
Naquela noite precisava de uma boa dose de cinismo, alguma coisa que tirasse de suas narinas o cheiro adocicado daquela sala. Ellen tinha posto na biblioteca rosas da estufa. Ele pegou o vaso e levou-o para o saguão. Rosas, na estação, eram excelentes. Fora da estação eram enjoativas. Jeremy estava começando a achar o mundo inteiro enjoativo, embora soubesse que o desastre era iminente.
Puxou o cordão da campainha e, quando Cuthbert apareceu, disse:
— Faça o favor de dizer à Sra. Porter que não venho jantar em casa. Tenho um compromisso de negócios. Infelizmente.
“Sim, infelizmente”, pensou Cuthbert. Disse:
— Sim, senhor. Informarei madame... depois que o senhor sair.
Entreolharam-se e Jeremy afastou-se. Cuthbert levou embora do saguão o vaso de rosas.
Como Ellen não conhecia as regras de educação de crianças da alta sociedade, lia atentamente todos os livros novos que apareciam sobre o assunto. Jeremy achava isso cômico. Disselhe, um dia:
— Não há nada que supere as injunções de sua preciosa Bíblia sobre o assunto de poupar a vara e estragar as crianças. E não há alguma coisa sobre um pai que “castiga” os filhos a quem ama e os mima quando os odeia? Sim. Melhor ainda, há um velho ditado: “Quanto mais se bate num cão, numa criança e numa nogueira, melhores ficam”. Não concordo com isso em relação ao cão e à nogueira, mas com uma criança é diferente.
— Oh, Jeremy, você não está falando sério — replicou Ellen, sorrindo. ¦— Nossos filhos o adoram.
— Isso é porque lhes dou uma boa surra, quando é necessário, e o mesmo faz Annie. Eles a adoram, também.
Essa observação indelicada sombreou o rosto de Ellen. Ao-notar isto, Jeremy disse, vivamente:
— Querida, eles a tratam, a você, como um deles.
— Sim, é isso, não é? — observou Ellen com uma animação que fez com que Jeremy se sentisse impaciente e terno ao mesmo tempo. — Você deveria ler o que Horace Mann disse a esse respeito: “Precisamos ser amigos de nossos filhos, ensiná-los a ter confiança em nós e amá-los sem restrição ou reservas íntimas, dar-lhes toda a nossa atenção, levá-los a sério, dar-lhes a escolha de conduta, respeitá-los...”
— Também li Horace Mann — replicou Jeremy. — É uma besta, conforme o consideram os ingleses. Se algum dia suas teorias pegarem na América, teremos gerações de pirralhos egoístas, gananciosos, chorões e exigentes. Lembre-se, querida, do que Salomão disse a respeito das crianças: “O homem é mau desde o nascimento, e mau desde a mocidade... O coração de uma criança é falso”. Lembre-se de que não há nada em sua Bíblia, Ellen, que diga que os pais devem honrar os filhos.
Ellen replicou, com um sorriso de protesto:
— Horace Mann diz que as crianças nascem puras e inocentes e que o que se tornam depois é devido aos pais.
— Há ocasiões em que realmente acredito no pecado original. As crianças recendem a isso, desde o dia em que nascem. — Jeremy ficou pensativo, observando Ellen. Compreendia-a cada vez mais, à medida que passava o tempo, e sabia que ela estava procurando aliviar as lembranças de sua infância. Dando alguma coisa aos filhos, não o fazia apenas porque eram filhos de Jeremy e, portanto, dignos de adoração (benza-a Deus!); estava dando algo à criança detestada e desprezada que fora. Sua antiga dor se atenuava quando cuidava de Christian e de Gabrielle. Jeremy sabia que ela ficava encantada por acreditar que nunca atirariam pedras neles nas ruas, que nunca seriam desprezados, que jamais sentiriam frio ou fome, nem seriam tratados com pouco-caso ou zombaria. Pensando nisso, ele apenas se inclinou, beijou-a e disse, gravemente:
— Não seja fanática, querida. Lembre-se de que nossos filhos são seres humanos venais que têm que ser constantemente corrigidos e precisam de uma orientação firme, tendo que aprender a respeitar a autoridade.
— Oh, eles compreendem isso, Jeremy. São muito inteligentes.
Jeremy escolhera pessoalmente a governanta das crianças, uma tal Srta. Maude Cummings, que não tinha ilusões sobre crianças e tratava Ellen com uma amável atenção, sentindo espanto e talvez um pouco de compaixão por ela. Era uma moça pequena e magra, de mais ou menos vinte e dois anos, muito bem-educada, inglesa e proverbialmente filha de um pároco. Era uma solteirona nata e, quando a via, Jeremy se lembrava das irmãs Brontê. Tinha um rosto oval e pensativo, pálido e de feições delicadas, cabelos lisos e pretos severamente partidos no meio. Vestia-se severamente de seda preta, tanto no inverno como no verão, o que poderia parecer um anacronismo se não tivesse olhos grandes, pretos e vivos, que jamais mostravam uma expressão sentimental, mas que tinham humor e firmeza. Jeremy às vezes pensava se a Srta. Cummings alguma vez tivera “contato carnal” com um homem. Duvidava disso, embora ela o fitasse com um brilho nos olhos e um leve sorriso nos lábios desbotados. Havia nela algo da Mona Lisa, quando estava em silêncio, o que geralmente acontecia quando se achava à mesa. Usava um anel de sinete na mãozinha esquerda, para o qual nunca deu explicação, embora fosse muito original. Sua voz era serena, mas cheia de autoridade. Os filhos de Jeremy não gostavam dela e muitas vezes se queixavam dela a Ellen, mas respeitavam-na de uma maneira que até Jeremy achava surpreendente. Ela ouvia as exposições de Ellen sobre as fantasias de Horace Mann sobre bondade e boas maneiras e dizia:
— Há muitas teorias novas, ultimamente, não é mesmo, Sra. Porter? Precisamos ser sensatos e testá-las antes de aceitá-las.
Ellen achava a Srta. Cummings um tanto desconcertante, pois a governanta de vez em quando a fazia sentir-se insípida, embora não fosse essa a intenção da moça. Kitty disse a Ellen:
— Aquela moça é muito esnobe, não é?... e superior... pelo menos na opinião dela. Provavelmente é pobre como Jó. Os ingleses são muito orgulhosos; jamais gostei deles. Sempre se esquecem de que os derrotamos na América.
Com suas habituais malícia e desconfiança, Kitty não gostava da governanta. A Srta. Cummings era um exemplo de polidez, mas sua serenidade enigmática parecia censurar a constante vivacidade de Kitty, as risadas altas, os ditos cruéis e espirituosos, os movimentos irrequietos, como se Kitty fosse uma nova-rica. Havia também muita sagacidade nos olhos da moça, muita reflexão, muitas interrogações. Kitty disse a Ellen:
— É muito fechada. É furtiva, também. Conheço esse tipo.
Não tendo muita afinidade com a Srta. Cummings, apesar das boas maneiras e da gentileza da moça, Ellen não tomou imediatamente a defesa da governanta. Depois, disse:
— Oh, não sei. As crianças também não gostam dela, Kitty. Pois bem, sejamos caridosas. Ela é de fato excelente como preceptora. E você não acha que seria bonita, se se vestisse um pouco mais na moda?
— Nada ajudaria a sua aparência — replicou Kitty, lembrando-se da maneira com que a Srta. Cummings a observava quando Jeremy estava presente: as pestanas da moça estremeciam e seu olhar tinha uma calma intensidade. “Fico imaginando se ela algum dia contou alguma coisa para aquela idiota da Ellen”, pensou Kitty.
Certa noite, quando ela e Jeremy estavam sós, Kitty disse:
— Não suporto aquela governanta, Jerry. Ela é manhosa e parece notar... tudo. Seus filhos também não gostam dela. Não é justo impor semelhante criatura a umas criancinhas tão sensíveis.
— Sensíveis, nada! — replicou Jeremy. — As crianças nada têm de sensíveis, e a Srta. Cummings sabe disso. É uma moça compreensiva, e tive sorte em encontrá-la. Também tem meios, conforme dizem os ingleses. Ensina porque gosta de ensinar, embora só Deus saiba por que motivo alguém pode escolher semelhante profissão. Ela não usa óculos cor-de-rosa; sabe tudo a respeito de crianças em geral e tenho a impressão também de que não gosta especialmente delas, o que demonstra que é uma mulher de grande bom senso. Agora, Kitty, você também não gosta de crianças, de modo que não faça cara feia para mim, como se de repente se visse tomada por uma paixão maternal.
Kitty riu. Estavam apreciando um dos deliciosos jantares em casa dela, pois Jeremy mandara Jochan para Filadélfia, para ver um cliente.
— Pois bem, acho que ela desconfia que há alguma coisa entre nós dois, Jerry, e talvez fale disso a Ellen.
— Se desconfia, vai ficar calada. Reserva britânica, você sabe. — Jeremy refletiu, depois de uma piscadela. — Você acha mesmo que ela pensa que rolamos juntos numa cama?
— Não seja grosseiro, Jerry. Você sabe que o amo realmente e que só faço isso com você. — Kitty falou com a maior sinceridade de que jamais fora capaz e Jeremy ouviu isso pela primeira vez, e ficou constrangido. Pensou: “Talvez eu devesse ver Kitty cada vez menos, até tudo acabar. Além do mais, há aquela Sra. Bedford, que é apetitosa e inteligente, também, além de divertida e sabida como Kitty, mas menos esperta, e tão jovem quanto Ellen. Essas rugas à volta dos olhos de Kitty estão ficando cada vez mais marcadas. Pensando bem, que é que eu realmente vi nela?”
A astuta Kitty notou qualquer coisa no rosto de Jeremy e teve medo. Disse, vivamente:
— Vamos falar sobre algo mais agradável do que a sua Cummings, que também parece estar de olho em você.
Kitty sabia perfeitamente que nenhuma mulher que amasse um homem (que não fosse seu marido) deveria aborrecê-lo, ou disputá-lo com outra, nem entediá-lo. Aqueles animais não mereciam confiança e tinham um jeito de fugir imediatamente se lhes fizessem muitas exigências, ou se ouvissem alguns insinuações que não lhes agradassem. Aquilo que aguentavam da esposa não aguentariam nem por um instante de uma amante. Não poderiam facilmente, e para sempre, dispor da esposa, mas as amantes eram dispensáveis. Além do mais, as esposas, por mais detestáveis que fossem, eram propriedade deles e os homens conservam sua propriedade. Com uma compaixão alheia à sua natureza, Kitty achou que as mulheres não têm o melhor quinhão, na vida, principalmente quando não têm um direito legal sobre um homem. Jamais gostara das pessoas de seu sexo; mas os homens lhe eram indispensáveis, principalmente Jeremy. Seu medo aumentou e ela recorreu ao seu espírito para diverti-lo, zangada consigo mesma por tê-lo aborrecido, embora momentaneamente.
Ellen lia para os filhos, todas as noites. Encontrara esse conselho num dos livros novos sobre a educação das crianças. Diziam os livros que, apesar da atenção de criados dedicados, de pajens ou de governantas, os filhos precisavam do cuidado das mães à hora de dormir, e que elas deveriam ler “uma história bonita e instrutiva tirada de um livro selecionado”. Quando Ellen contara isso a Jeremy, ele dissera:
— Leia qualquer coisa de Oj três mosqueteiros. As crianças gostam de histórias de sangue, trovões, assassínios e pecado. Sim, querida, gostam realmente. Você só tem vinte e sete anos e não é velha demais para lembrar-se do que as crianças gostam.
— Vinte e seis — replicara Ellen. — Só farei vinte e sete em janeiro. Sei que não está falando sério a respeito de CE três mosqueteiros. Estou começando os Contos de fada de Grimm.
— São realmente grim 1 (1 “Grim” quer dizer "horrível”, "sombrio”. Houve um jogo de palavras no comentário de Jeremy. - N. da T.) — observou Jeremy. — Isto é, se as histórias não tiverem sido expurgadas atualmente por esses novos amantes das crianças, que procuram poupar-lhes o conhecimento dos fatos da vida. Por que haveriam de ser poupadas? Além do mais, elas nascem completamente equipadas com esses “fatos”. Depois lhes ensinam a hipocrisia, a ilusão de que a vida é realmente um belo sonho e que todos os homens são irmãos. As crianças sabem que tudo é uma maldita tolice, e isso lhes faz mal, mais tarde, quando lhes ensinam mentiras. Os políticos são um exemplo.
Ellen não sabia que os filhos se divertiam à sua custa e zombavam dela, às suas costas, e às vezes até mesmo na sua frente. À noite ouviam as histórias que ela lia e piscavam um para o outro de maneira nada afetuosa. Christian era agora um belo menino; Gabrielle tinha um tipo latino e era muito viva. Ambos eram extraordinariamente inteligentes e sem gentileza ou ilusões. Com a Srta. Cummings ainda eram “piores” do que com as últimas governantas americanas que tinham tido, embora esta última conseguisse controlá-los com maior facilidade. Assim como Cuthbert e Annie, a nova governanta temia pela mãe daquelas crianças.
Ellen escolhera uma das histórias “sangrentas” dos irmãos Grimm, naquela noite de março, com a neve assobiando nas janelas e o vento uivando nas chaminés. A lareira do quarto das crianças estava acesa e o fogo estalava, livre da tormenta. Lembrando-se das palavras de Jeremy, Ellen pegou outro livro, de Hans Christian Andersen. A pequena sereia seria uma ótima leitura. Ellen leu com profundo sentimento e muita compreensão. Quando terminou a história comovente, havia lágrimas em seus olhos. Olhou para as crianças, Christian de camisola e roupão de lã azul, Gabrielle de camisola de seda e rendas e roupão vermelho.
— Sempre gostei dessa história — comentou Ellen. — Sempre me faz chorar.
— Por quê? — perguntou Christian. — Acho que é boba.
— De que maneira? — perguntou Ellen, consternada.
Foi Gabrielle, a espertinha, quem respondeu:
— O príncipe foi tolo demais em se apaixonar por uma sereia, e ela foi estúpida por amar um homem ainda mais estúpido. Por que é que ela desistiu da vida longa que teria se sua cauda não tivesse sido cortada para se parecer com pernas e pés? Ela devia ter procurado um homem-sereia para amar, se é que queria tanto amar, e poderia então ter tido uma vida longa. Mas depois, com pernas e pés, e toda aquela dor quando andava e dançava, ela não tinha nada.
— Ela adquiriu uma alma humana — replicou Ellen, cada vez mais consternada.
— Quem é que fez com que ela pensasse que ela ou qualquer pessoa tinham alma? — perguntou Christian.
Ellen ficou horrorizada.
— Mas, querido, você sabe que temos alma.
— Não, mamãe, não sei. Sei o que você diz e o padre e as professoras da escola dominical, mas isso não prova nada.
É apenas uma coisa que eles querem e, porque a querem, acreditam que seja assim.
Ellen fitou-o, entristecida.
— Mas a Bíblia diz a mesma coisa. Devemos acreditar.
— Por que devemos acreditar numa coisa que a gente não pode provar, mamãe querida?
Ellen não notou o sarcasmo, e o desprezo na voz do filho. Pensou ter apenas ouvido uma pergunta séria.
— É uma questão de fé, querido. Devemos aceitar certas coisas, pela fé.
— Por quê? — perguntou Gabrielle.
— Porque Deus e Nosso Senhor e os profetas o disseram, Gaby.
Novas lágrimas surgiram nos olhos de Ellen. Lembrou-se de que Jeremy estava sempre falando da corrupção das crianças. Seria possível que a Srta. Cummings lhes tivesse ensinado ideias tão perturbadoras? Ellen desconfiara de que a governanta fosse cética, embora sempre levasse as crianças à escola dominical e insistisse nisso, silenciando os protestos delas.
— Quem lhes deu ideias tão horríveis, Christian, Gaby? Foi a Srta. Cummings?
Os grandes olhos de Christian, tão parecidos com os de Ellen, exceto pela expressão, se iluminaram. Estava aí a oportunidade de se livrarem daquela pedante! Depois, refletiu. Mamãe era uma tola e não tinha nenhuma autoridade naquela casa. Iria imediatamente contar ao papai, e ele tinha um jeito de fazer perguntas muito diretas e interrogaria o filho sem piedade. Christian pensou na última surra que levara e que fora a mais doída de que se lembrava.
— Você precisa parar de mentir, Chris — disse Jeremy. — Da próxima vez, você apanhará o dobro, se eu o pegar numa mentira.
Assim, com uma raiva emburrada que somente os olhos amorosos de Ellen perceberam, Chris disse:
— Não, mamãe, não foi ela. São apenas umas coisas que perguntei a mim mesmo. Gaby e eu muitas vezes falamos nisso.
— Você nunca falou nisso comigo, Chris, e sou sua mãe.
“Azar meu e de Gaby”, pensou o menino. Olhou para
Ellen com ar inocente.
— Da próxima vez falaremos, mamãe. Afinal de contas, somos apenas crianças, não é?
Gabrielle ouviu-o com um brilho sombrio no rosto pontudo e com olhos que pareciam rir. “Christian é bom, nessas coisas”, pensou ela. “Melhor do que aqueles atores amalucados da peça do último Natal, Peter Pan.” Quando Ellen, quase súplice, olhou para ela, Gabrielle disse, com voz afetadamente doce:
— Você deve ter paciência conosco, como diz a Srta. Cummings, mamãe.
— Sim, querida — respondeu Ellen, aliviada. — Agora vamos rezar todos juntos.
Naquela noite, como de costume, Gabrielle saiu sorrateiramente de seu quarto para o do irmão. Sentou-se na cama dele; falaram da mãe e morreram de rir, com o rosto nos travesseiros, para que a Srta. Cummings não os ouvisse. E os risos foram mais prolongados.
Capítulo 22
A Srta. Cummings tinha grande consideração por Cuthbert, que ela considerava “um cavalheiro”. Tinha uma afeição especial por Annie, pois, como todos os ingleses, respeitava as pessoas de bom senso e realistas, tendo desprezo por sentimentalismo. (Por esse motivo, tinha um afeto especial pelas irmãs Brontê.) Em relação a Clarisse, a criada particular de Ellen, a Srta. Cummings manifestava desprezo e desconfiança. A governanta não gostava de pessoas indiscretas e que ficavam escutando às portas, mas, sem querer, ouvira algumas observações abafadas e irônicas, em francês, de Clarisse a Kitty Wilder.
O lugar favorito da Srta. Cummings, mais ainda do que seus encantadores aposentos no terceiro andar, era a grande cozinha de tijolos, com sua lareira. Ficava ali sentada, nos dias frios ou úmidos, perto do fogo, degustando chá da China e mordiscando o pão feito por Cuthbert, que reconhecia ser tão bom quanto qualquer outro que comera na Inglaterra. (“Talvez um pouco mais de manteiga, Cuthbert; e você experimentou pôr uma ou duas gotas de baunilha? Só um pouquinho; nada que se perceba, mas dá um gostinho especial.”) As empregadas gostavam de sua companhia calma, admiravam seu rosto macio e oval e a maneira antiquada com que penteava os cabelos. “Uma dama”, diziam umas às outras. Cuthbert, principalmente, gostava de vê-la na cozinha sorvendo com ar crítico o caldo que ele fazia, ou comendo seu molho de camarão para as lagostas, e esperava por uma aprovadora inclinação de cabeça.
— O Sr. Jim Brady também o apreciava — disse Cuthbert, certa vez. — Mas nunca me impressionei, Srta. Cummings. Um homem vulgar.
A governanta replicara:
— Descobri que os diamantes 1(1 Alusão a Diamond Jim Brady. - N. da T.) são sempre uma desculpa para o mau gosto.
A Srta. Cummings estava ficando cada vez mais preocupada com os filhos de Ellen. Naquele dia de fins de março, ela disse:
— Sei perfeitamente que as crianças nascem más e intransigentes, mas Christian e Gabrielle parecem ter poucas virtudes compensadoras, exceto, talvez, uma inteligência fora do comum. O mal, entretanto, é muito mais formidável nas pessoas inteligentes, do que nas estúpidas. Apesar da energia do Sr. Porter, assim como da de Annie e da minha, apesar de meus conselhos e da escola dominical, eles têm uma mente peculiar. São cruéis, não têm a mínima inclinação para a caridade cristã, para a bondade, o remorso, ou bons pensamentos. Parecem achar irrisórias essas boas qualidades. É como se tivessem nascido sem... como direi?
— Sem humanidade — sugeriu Cuthbert.
A Srta. Cummings suspirou.
— Pois bem, não tenho a humanidade em grande conta, Cuthbert, nem mesmo nos seus melhores momentos. Não. É outra coisa. Como uma deformação do espírito... uma cegueira. Isso não é novidade para mim. — Ela hesitou. — Antes de aceitar este emprego, tive a infelicidade de cuidar de um menino um pouco mais velho do que Christian, que estava sob minha orientação. Também ele tinha um defeito do espírito, uma indiscutível crueldade, até mais do que Christian. Um belo menino, também, sedutor, sabendo agradar, quando lhe convinha. Tenho certeza de que matou seu irmãozinho, embora ninguém suspeitasse disso, a não ser eu. Ele tinha ciúme do irmão e do amor que os pais dedicavam a ele.
Cuthbert, que enfiava pedacinhos de alho numa perna de carneiro, interrompeu o trabalho e olhou para ela com ar grave. A governanta continuou:
— Eles estavam num barco, Cuthbert, num lago. O pequenino, de apenas três anos, não sabia nadar. O barco virou. O menino mais velho declarou inúmeras vezes, com lágrimas nos olhos, que tentara salvar o irmão, e os pais desesperados acreditaram nele. Eu, não. Não havia prova concreta, mas eu o observava havia muitos meses e, portanto, soube. Ele era capaz de fazer qualquer coisa, quando interferiam com seus desejos. Saí de lá imediatamente. Não suportava olhar para aqueles olhos bonitos e sérios, quando ele falava do irmão morto. Não suportava ver suas lágrimas. Eu tinha medo; . . — Ela abaixou a voz — de que, se ficasse, eu acabasse por enfrentá-lo, com resultados desastrosos. Não sou uma pessoa mole.
Cuthbert continuou seu trabalho delicado, com ar de sombria reflexão. Finalmente, disse:
— Também conheci pessoas assim. Muito bem; receio que tenha razão, Srta. Cummings, em sua opinião sobre Christian e a menina Gabrielle. Eles aumentam a maldade um do outro. A Sra. Porter fala do quanto eles são “unidos”. Os maus se reconhecem imediatamente e se complementam. Fiquemos gratos, entretanto, por eles não serem inimigos.
— Seria interessante conhecer a história dos antepassados deles — disse a governanta. — Não acredito nessa atual insistência sobre a influência do ambiente; acredito que o sangue ruim pode pular gerações e aparecer em outras, sem que nada possa impedi-lo. A Sra. Porter é um exemplo de gentileza e de ternura, e o Sr. Porter é um cavalheiro de caráter íntegro, apesar de seus ocasionais olhares ferozes e de suas maneiras bruscas. Os filhos não se parecem em nada com eles, apesar da semelhança física. É estranho, mas a beleza às vezes é a máscara da maldade; é como se Satanás desse a certas pessoas essa vantagem, para que se tornem uma ameaça para os outros.
— Apesar disso, a Sra. Porter é muito bonita — observou Cuthbert.
— Extraordinariamente bonita, sim. E o Sr. Porter às vezes parece bonito, também. Ah, quem é que entende essas coisas? Podemos apenas percebê-las e ter cautela. Procuro insinuar certas coisas à Sra. Porter, de quem as crianças zombam, mas ela me olha com ar perplexo. Parece-me que antipatiza comigo.
— Creio que a Sra. Porter não antipatiza com ninguém — disse Cuthbert. — Quanto à Sra. Wilder...
Os dois trocaram olhares significativos. A Srta. Cummings suspirou de novo e Cuthbert serviu-a de outra xícara de chá. Ficaram ouvindo o estalar do fogo na lareira e o assobio da neve contra as janelas.
— Não sou muito sensível a certas coisas, mas tenho um pressentimento de desastre — disse a Srta. Cummings.
— Eu também — concordou Cuthbert. — Há muito tempo que sinto isso, desde o momento em que conheci a Sra. Porter. Certas pessoas são marcadas para a desgraça, não é?
— Dá o que pensar — observou a governanta. — É muito estranho os padres falarem que Deus ama todos os seus filhos, mesmo os mais perigosos. Duvido que o Todo-Poderoso não faça discriminação. Exortam-nos a ter compaixão de tudo. Não li isso na Bíblia. Perdoar os inimigos, sim. Mas não chorar por eles.
Jeremy falou, encolerizado, com alguns políticos, seus conhecidos :
— Por que Wilson? — perguntou. — Não; não serei um delegado da convenção. Isso é definitivo.
Os políticos se entreolharam e acenderam novos charutos. Estavam reunidos no escritório de Jeremy.
— Precisamos de uma nova visão de governo — disse um deles.
Jeremy olhou para todos, com ar cínico.
— Assim como o “novo progresso” de Wilson, como ele o chama? Já mencionei inúmeras vezes o que vocês já sabem, que ele criou uma célula comunista em Princeton. O sujeito não é muito brilhante; tenho conversado várias vezes com ele. É verdade que nenhum comunista tem muita inteligência; eles têm apenas uma sede de poder. Em todo caso, duvido que Wilson tenha até mesmo isso. Mas é um homem que pode ser manejado facilmente, apesar de toda a sua erudição. Estou certo?
— Jerry, com mil demônios se sabemos do que está falando!
Jeremy observou-os e acendeu um cigarro, calmamente.
— Talvez não saibam, talvez saibam. Que me dizem do amigo dele, o Coronel House? Ou nada sabem a respeito dele, também?
Os políticos ficaram em silêncio, observando as pontas brilhantes de seus charutos. Jeremy disse:
— Compreendo. Vocês receberam ordens.
— Que diabo quer dizer com isso? Elegemos o homem que consideramos o melhor para o cargo.
— E o que me dizem do país? — Como os outros ficassem em silêncio, Jeremy atirou o fósforo no fogo, com uma blasfêmia. — Tivemos Roosevelt, que era um fanfarrão, e Taft, que é cordato, tem um pouco de inteligência e é prudente. Eles, pelo menos, são homens que têm consideração pela América, embora muitas vezes algumas pessoas tenham atribuído certas frases a Roosevelt. Nenhum deles trairia sua pátria.
— Mas você acha que Wilson o faria? — Os políticos riram, mas Jeremy continuou sério.
— De um modo ou de outro, sim, talvez sem intenção. Ele é um homem muito fraco. E há o Coronel House, que não é fraco e sim muito traiçoeiro.
— Conheço algumas das ideias dele, Jerry — observou um dos políticos. — Ele acha que já está na hora de a América tomar parte ativa nos negócios do mundo. Não somos mais uma nação isolada; o mundo está à nossa soleira; não podemos mais ficar à parte.
— E por que não? Que há de mal em um homem fechar suas portas e suas janelas contra os lobos... ou os criminosos internacionais? Que há de errado nos avisos de Washington contra os envolvimentos estrangeiros?
— Os tempos mudam, Jerry. O mundo moderno é diferente.
— Os tempos sempre mudam e o mundo é sempre diferente, dia a dia. Mas existem certas verdades que nunca mudam. Como, por exemplo, cada um cuidar de sua vida.
— Tudo muito vago, Jerry.
— Não penso que vocês acreditem nisso. Ele é um homem fechado, sem grande inteligência. Se fosse inteligente, não teria fundado aquela célula comunista, Mas os comunistas são diabolicamente espertos para encontrar homens como Wilson, colocando-os no poder. Eu sei. Meu primo é um desses idiotas. Ele chama o comunismo de “sistema de amor”. Li que Wilson fez essa mesma observação. Frank Porter, meu primo, balbucia exatamente como Wilson.
Os outros não responderam. Jeremy levantou-se, com ar extremamente grave.
— As novas leis sobre o trabalho das crianças... As crianças trabalharam durante séculos, nas fábricas e no campo. Não gosto disso, não aprovo isso. Mas por que motivo os pais não podem ganhar o suficiente para deixar as crianças fora das fábricas e das indústrias? Vocês sabem por quê. O governo taxa tão pesadamente todos os materiais que é impossível a uma iniciativa privada pagar salários adequados a seus empregados e ter um lucro mínimo. Nesse meio tempo, o povo é incitado contra o capitalismo. Vocês sabem disso; eu sei disso. Qual a finalidade? Vocês sabem o que é... a suposta destruição do capitalismo em benefício do socialismo ou do comunismo; ambos são iguais, como qualquer homem inteligente sabe. Então a classe média será eliminada; isso faz parte do plano geral deles.
Os políticos fitaram Jeremy e nada disseram, embora um ou dois sacudissem a cabeça com ar inteligente.
— A Sociedade Scardo — disse Jeremy. — Ostensivamente, são fascistas e banqueiros firmes e conceituados, reunindo-se em lugares fechados, no mundo inteiro. Apenas excelentes cavalheiros preocupados com a estabilidade do dinheiro e dos investimentos, não é? Agora, rapazes, vocês não podem mais ter ilusões a esse respeito. E o Comitê para Estudos Estrangeiros, na Fifth Avenue? “Estudos” não exigem guardas armados, não é? Ou portas e janelas com grades?
Ele percebeu um repentino silêncio na sala, embora alguns políticos parecessem sinceramente perplexos. Jeremy olhou para todos com expressão de cólera.
— Vejo que alguns de vocês me compreendem perfeitamente. Quando é que a grande guerra vai rebentar? No próximo ano, ou no seguinte?
— Você fez parte do Comitê para Estudos Estrangeiros, não fez?
— Ah! E como é que você soube disso? — perguntou Jeremy.
— Ora, Jerry, não é segredo. Não há nada de criminoso nisso, há? Alguns dos mais poderosos homens da América pertencem a ele...
— É verdade. E algum de vocês tem ideia do que é discutido entre esses “homens poderosos”? Eu tenho. A guerra.
— Contra quem? — perguntou um dos políticos, sinceramente perplexo. — E por quê?
— Pergunte aqui a seus amigos. Eles sabem.
— Que é que você está fumando, Jerry? Haxixe?
Todos riram alto. Jeremy observou-os e de repente se sentiu cansado. Ergueu as mãos, enquanto alguns o olhavam com semivelada hostilidade e vigilância.
— Políticos! — disse Jeremy. — Não importa que sejam democratas ou republicanos. Os políticos são todos iguais. Conforme disse Aristóteles: “Os políticos não nascem, são evacuados”.
Ninguém achou graça. Um dos homens disse:
— Por que é que você não volta para o Partido Republicano, já que está tão descontente?
— Não há diferença entre vocês — observou Jeremy.
— Você pode juntar-se ao Partido Populista, no oeste.
— Jerry, você e eu sabemos que homens tremendamente ricos pertencem ao Comitê para Estudos Estrangeiros. Eles sabem que o socialismo os eliminaria. Não podem, portanto, ser a favor dele — disse um outro.
Jeremy fitou-o, sem acreditar.
— Está louco? O socialismo não destruirá os muito ricos, porque, do contrário, estes não o apoiariam secretamente. Repito que querem destruir a classe média que se interpõe entre eles e o exercício da tirania que desejam. — Fez uma pausa e continuou: — Há apenas uma coisa que desejo saber: quem os pagou?
Todos se ergueram, com sincera ou simulada indignação. Nada mais disseram. Saíram do escritório de Jeremy.
Capítulo 23
Maude Cummings participava com a família dos jantares íntimos, quando somente um ou dois velhos amigos estavam presentes. Ellen muitas vezes a convidava para reuniões, mas Maude recusava delicadamente. “São estranhos e eu sou uma estranha”, dizia ela. Nessas ocasiões havia nos olhos de Ellen uma expressão distante e triste e ela se afastava, de cabeça baixa. Certa vez, Maude observara-a afastar-se e pensara: “Querida, você também é uma estranha e sempre o seremos uma para a outra”.
Maude sempre aceitava o convite quando Charles Godfrey comparecia a jantares íntimos. Ela cedo percebera o amor dele por Ellen. Sabia, com sua percepção, que era um homem em quem se poderia confiar. Apesar disso, hesitava. Ela era inglesa e tinha o amor dos ingleses pela reserva e a discrição, assim como seu desprezo pela intrusão e pela subjetividade. Além do mais, embora fosse governanta, não passava de uma empregada da casa. Duvidava que Jeremy aprovasse sua “interferência”, principalmente num assunto tão delicado. Mas o grande desejo de ajudar Ellen sobrepujou sua reserva e, em dada manhã, ela telefonou para Charles Godfrey. Jeremy estava em Filadélfia. Com voz macia, mas firme, ela disse:
— Sr. Godfrey, gostaria de ter uma conversa com o senhor, se lhe conviesse, de preferência hoje.
Ele ficou admirado. Podia ver o rosto de Maude, macio, pálido, controlado, e, pela primeira vez, admirou-se de não ter ainda percebido que ela possuía uma certa beleza. Admirara-a, desde o princípio. Era uma dama; tinha bom senso. Sabia também que Ellen sentia um certo constrangimento quando a governanta se achava presente, como se soubesse que deveria ouvir Maude, mas não desejasse fazê-lo. Era como se um instinto estivesse tentando preveni-la sem que ela lhe desse atenção, devido ao medo.
— Pois não, Srta. Cummings — disse Charles. — Quer almoçar comigo? Talvez no Delmonico’s?
— Talvez um lugar menor, mais simples, senhor? Além do mais, não tenho um vestido adequado.
Ele citou um restaurantezinho discreto perto do Delmonico’s, aonde frequentemente levava suas amigas. Ficou imaginando se a atmosfera discreta constrangeria a Srta. Cummings; depois não se preocupou mais com isso. A moça era traquejada, e de novo ele ficou imaginando por que não percebera isso antes. Ellen poderia ficar encabulada, mas não a Srta. Cummings. Ele deu-lhe o endereço e disse como poderia chegar lá.
— Talvez assim seja mais fácil, se a senhora tomar uma carruagem.
— Não, obrigada. O bonde servirá muito bem.
Era um agradável dia de abril, doce, embora tivesse o cheiro de Nova York, com as ruas cheias de lixo e de sujeira, o que fazia com que caminhar fosse difícil e um pouco perigoso, a não ser nas avenidas principais. Sempre havia malandros na rua e alguns vadios sinistros que acompanhavam as mulheres sós, usando uma linguagem atrevida e fazendo gestos obscenos. Charles ficou preocupado, depois não pensou mais nisso. A Srta. Cummings era uma jovem que poderia enfrentar qualquer situação, pensou ele, com uma desusada admiração. Só um patife muito forte poderia dominá-la.
O estoque de roupas da Srta. Cummings era pequeno e antiquado, embora os vestidos fossem de fazenda muito boa, conforme Charles já notara, e indubitavelmente caros. Muitas vezes, à mesa, ele a considerara uma moça misteriosa. Ela estava usando o habitual vestido de seda preta, de blusa simples com uma gola de renda branca, fina e feita a mão, presa por um broche de opala; a saia era reta e simples, apenas levemente drapeada na frente. Sapatos pretos bem engraxados e bem-feitos, luvas de pelica preta, impecáveis. Sobre o vestido ela usava um mantô de casimira fina. O chapéu de aba larga era de feltro preto, com rosas de seda num tom de marrom apagado. Ela sempre procurava passar despercebida e era o que acontecia, devido a sua maneira de vestir, ao penteado severo e ao rosto sereno. Carregava uma bolsa de couro preto, velha, mas não estragada e nem barata.
Apesar disso, no bonde ela atraiu imediatamente olhares curiosos, quando se sentou calmamente no banco de palha, sozinha. Pelas janelas empoeiradas, olhava para as ruas fervilhantes e seus pensamentos eram tão tranquilos quanto seu rosto, mas nítidos e determinados. Ela sabia exatamente o que pretendia dizer, sem timidez feminina, sem hesitação ou falsa modéstia, sem afirmar que sabia que não deveria estar falando com ele assim, mas que se via obrigada... Nada de “desculpe-me, por favor”. Uma pessoa deve fazer o que acha que deve, embora seja filha de um pároco.
As lojas estavam repletas, embora não fizesse muito tempo que o craque terminara. As calçadas estavam cheias de homens e de mulheres apressados. As torres das igrejas erguiam-se para o céu branco e quente. Em cada esquina, havia mulheres desalinhadas vendendo violetas e muitos homens com carrinhos de castanhas assadas. O bonde rangia e sacolejava. Por que é que na América todo mundo parecia tão barulhento? Foi o que pensou a Srta. Cummings. Até mesmo os ônibus rangiam. Era como uma febre; todo mundo se apressava, até mesmo aqueles que, obviamente, não iam a um lugar determinado. A campainha do bonde soava incessantemente, quando carruagens e automóveis impediam seu caminho, embora ele andasse mais depressa do que os outros veículos. Nada inglês, foi o que pensou Maude, rindo depois de seu esnobismo. Seu riso era dirigido às suas próprias fraquezas, pois era muito bondosa para rir dos outros. Apesar disso, em relação aos tolos, aos indignos, aos preguiçosos, aos estúpidos, aos ignorantes e aos impetuosos ela nada sentia, além de um desprezo silencioso que brilhava em seus belos olhos pretos.
Não teve dificuldade em encontrar o restaurante. Charles a esperava na esquina. Ela o achou muito bonito, e não pela primeira vez, de uma beleza forte e viril, rosto decidido e um ar de competência. Não tinha a vitalidade do Sr. Porter, é claro, nem seus olhos lampejantes. Apesar disso, Charles tinha uma força igual à de Jeremy e uma calma sagacidade. Maude olhou-o com prazer quando ele lhe tomou a mão e conduziu-a ao restaurante, com seus reservados discretos, com cortinas.
— Podemos conversar aqui, Srta. Cummings, sem interferência ou curiosidade — disse ele.
A governanta soube imediatamente o que aquele luxo prudente insinuava e sorriu de leve, ouvindo vozes abafadas atrás de cortinas de veludo vermelho, principalmente vozes de mulheres. Notou o olhar de esguelha que Charles lhe lançou e achou graça. “Será que ele me considera ingênua?” O maitre inclinou-se diante deles e levou-os para um dos compartimentos. Antes de cerrar as cortinas, lançou a Maude um olhar de admiração, percebendo imediatamente que ela era uma dama e que aquele não era um encontro clandestino. A mesa redonda tinha uma toalha branca e brilhante, com talheres pesados e um bonito centro de mesa com violetas. Depois de fazer Maude sentar-se, Charles fitou-a novamente. “Não, ela não se parece com essas violetas”, pensou ele. “Com um cravo, talvez.” Ficou de novo admirado. “Sim, possivelmente com um cravo, embora na aparência não lembre aquela flor acre e sensual.” Ele não pensara que iria apreciar aquela refeição com a governanta, mas agora estava esperançoso.
— Vinho? — perguntou, sabendo imediatamente que a escolha dela seria perfeita.
— Um chablis, por favor — respondeu Maude. — Não aprecio muito vinhos doces.
Ele gostou da pronúncia inglesa, que, entretanto, não tinha aquele tom cantante que tantas mulheres inglesas tinham e que tornava difícil a conversa com um americano. Havia na voz da moça uma imponência que indicava boa educação. Charles olhou para o traje de Maude e pensou em Shakespeare: “Rico, mas não espalhafatoso”. Ela tirava calmamente as luvas. Charles achou que Maude tinha mãos magníficas, embora delicadas. O anel de sinete na mão esquerda brilhou à suave luz de gás.
Ele consultou-a sobre o cardápio e ficou satisfeito com a escolha. Mais uma vez se admirou de não tê-la achado bonita antes. Não tinha a beleza incomparável e ofuscante de Ellen, é claro, mas possuía um encanto diferente que provinha de traquejo social e de conhecimento. Embora vários anos mais moça do que Ellen, dava impressão de grande maturidade. Uma bela mulher, pensou ele, realmente bela, com olhos extraordinários, como safiras escuras.
Maude notou que ele a examinava furtivamente e sentiu uma leve sensação de alegria. Aquele encontro ia ser menos constrangedor do que ela temera. Refletiu por um momento sobre o prazer que começava a sentir. De repente, não era mais um estranho. Havia um calor de confiança entre eles. Durante o almoço, falaram agradavelmente de coisas sem importância e Charles descobriu que a moça tinha uma personalidade toda sua, não aguda e áspera como a de Kitty Wilder, nada cruel, nem agressiva. Não tinha, tampouco, o insistente interesse pessoal de Kitty. Assuntos pessoais não interessavam a Maude. Ela não ambicionava chamar a atenção, como Kitty, nem tinha a mesma animação febril. Charles não gostava nada de Kitty e sabia de tudo a seu respeito.
Não era sempre que achava a companhia de uma mulher tão agradável quanto a de Maude. Ela era tranquila, seus gestos eram calmos. Tinha um absoluto controle sobre si mesma. Enquanto comiam a sobremesa e tomavam café, entretanto, o brilho do rosto dela diminuiu e sua expressão se tornou remota e abstrata.
Maude ergueu os olhos com franqueza, fitou-o diretamente e disse:
— Estou pensando em deixar meu emprego em casa do Sr. Porter.
— Não diga! — exclamou ele, como se estivesse falando do tempo. — Posso perguntar por que motivo, Srta. Cummings?
Ela hesitou por um instante.
— Não há nada que eu possa fazer pela Sra. Porter, senhor, embora eu tenha tentado o possível. Ela é muito vulnerável. Tenho medo por ela. Se eu pudesse fazer alguma coisa, ficaria. — Hesitou de novo. — Sei que o senhor é um amigo, além de sócio do Sr. Porter, e que... se sente bondosamente atraído pela Sra. Porter. Preocupa-se com ela tanto quanto eu.
Charles sorveu seu café em silêncio. Depois, perguntou:
— Discutiu isso com o Sr. Porter?
— Não. Creio que ele já sabe... de muita coisa. Sobre a Sra. Porter. Mas não sabe de tudo sobre seus filhos.
— Compreendo — disse Charles. — Mas a senhora sabe.
— Sim, sei. Conheço bem as crianças, talvez bem demais.
Charles olhou-a vivamente. Maude notou que os olhos dele estavam brilhantes e atentos. O rapaz passou lentamente a mão sobre os bastos cabelos castanho-claros, mas não desviou os olhos. Naquele momento ela não podia compreendê-los, embora sentisse uma ligeira excitação.
— Nem todas as crianças são más — disse Charles.
Maude suspirou e relaxou, na cadeira. “Então não preciso contar-lhe mais nada”, pensou. “Ele sabe a respeito de Christian e de Gabrielle.”
— Tem razão. Mas a gente nunca sabe, não é? Depois talvez seja tarde demais. Eu gostaria... — fez uma pausa e olhou para suas mãos — que a Sra. Porter não amasse tanto os filhos. Isso é muito perigoso. Às vezes acho que ela tem medo deles. Instinto, talvez.
Charles refletiu sobre isso, franziu as sobrancelhas e de novo passou a mão nos cabelos.
— Não deve sair daquela casa, Srta. Cummings. Acho que precisam da senhora.
Maude percebeu que ele se referia a Ellen e imediatamente ficou triste, sem saber por quê.
— Vou pensar nisso — disse ela. — Cuthbert e Annie também querem que eu fique.
— Sim. Pois bem, ambos são muito inteligentes, Srta. Cummings. — Charles tomou um gole de vinho. — Há, neste mundo, pessoas que precisam de proteção contra elas mesmas, pessoas confiantes e sem malícia.
De novo ela percebeu que ele se referia a Ellen e mordeu o canto da boca. Olhou para o relógio preso na blusa, dizendo:
— Vão notar a minha ausência. Obrigada pela sua compreensão, senhor.
— Vou levá-la de carro para casa, Srta. Cummings. Parece que vai chover.
— Obrigada, mas o senhor precisa deixar-me um quarteirão antes. Do contrário, pareceria estranho. — Ela refletiu por um momento e depois acrescentou, com desusado ardor: — Há aquela empregada da Sra. Porter, Clarisse. Sei que não é da minha conta, mas ela está sempre telefonando para a Sra. Wilder, falando da Sra. Porter, em francês.
Charles ficou atento. A Srta. Cummings abaixou a voz:
— A empregada fala... desrespeitosamente... da Sra. Porter. Pensei em contar ao Sr. Porter, embora isso talvez seja uma impertinência.
— Não o creio. Prefere que eu fale com ele, sem me referir à senhora?
— Oh, sim, se o senhor quiser.
Entreolharam-se, pensando em Kitty. Maude disse:
— Creio que a Sra. Wilder tem má influência sobre as crianças. Reconheço que parece gostar muito delas e receio que as crianças gostem mais dela do que da mãe. A Sra. Wilder é muito viva e inteligente. As crianças parecem ser mais filhos dela.
— Também observei isso. Estranho, não é?
— Não realmente — replicou Maude. — As pessoas que se parecem se sentem atraídas umas pelas outras.
Levantaram-se e Maude calçou as luvas. De novo os olhos deles se encontraram, vigilantes.
— Então, a senhora não vai partir? — perguntou Charles. Vendo que ela não respondia, acrescentou: — Mais de uma pessoa sentiria sua falta, Srta. Cummings.
Ela corou. Charles pegou o cotovelo de Maude delicadamente e conduziu-a para fora, onde o Cadillac dele os esperava. O céu escurecera, a rua estava sombria, mas pareceu a Maude que tudo estava cheio de uma luz alegre, e quando ela sorriu para Charles seu rosto parecia iluminado.
— Ficarei, senhor.
— Ótimo.
No dia seguinte, ele lhe mandou uma caixa de cravos de estufa e Maude dormiu com as flores na mesinha ao lado da cama e o cartão sob o travesseiro.
Dois dias depois, sob protestos de Ellen e sem nenhuma explicação, Jeremy despediu Clarisse bruscamente. Kitty ficou consternada quando a chorosa Clarisse foi procurá-la, dizendo:
— Madame, foi aquela tola Sra. Porter. Ela deve ter-me ouvido, sem que eu o percebesse, embora eu tenha sempre sido discreta.
Kitty mostrou-se solidária com a empregada, mas, como ela não lhe seria mais útil, deu-lhe cinco dólares, um tapinha no braço e despediu-a.
Uma furtiva indagação por parte de Kitty fez com que ficasse sabendo que Ellen ignorava por que motivo Jeremy despedira Clarisse. Além do mais, quando Kitty mencionou a ausência de Clarisse, Jeremy olhou-a com ar vazio.
— Oh, jamais gostei daquela mulher, e ela hostilizava os outros empregados. É preciso que haja harmonia numa casa, não é?
— Você tem toda a razão — disse Kitty, sem notar o brilho duro do olhar dele. — Eu também não gostava dela. Há muito que aconselhei Ellen a despedi-la, mas você conhece Ellen.
— Sim, conheço — replicou Jeremy. Kitty ficou contente. Então, também ele achava que Ellen era uma tola!
Ellen não sabia por que se sentia tão deprimida e melancólica quando, no princípio do verão, a família foi para a casa de Long Island. Era verdade que Jeremy estava cada vez mais envolvido nos “negócios” e que, por isso, seu círculo de amigos se tornava cada vez menor. (Ellen não sabia que isso acontecia porque muitos tinham ficado cautelosos devido ao que eles chamavam de “ideias extremistas” de Jeremy, das quais discordavam, embora isso não os impedisse de tomá-lo como advogado, quando necessário, nem de recorrer à sua aparente influência em Washington, embora ele não fosse mais deputado.) Jeremy viajava cada vez mais, e Ellen julgava que também isso se devesse aos “negócios”. Até mesmo os discursos que ele fazia por todo o país e os artigos que escrevia em inúmeros jornais, inclusive em revistas jurídicas, eram por ela considerados como parte do misterioso mundo dos homens. Ela não sabia que Jeremy era constantemente comentado na Casa Branca.
Mesmo quando não estava viajando, Jeremy passava muitas noites longe da família, com Kitty, de quem se estava desligando pouco a pouco, ou com a Sra. Bedford, que se divorciara escandalosamente, embora não tivesse sido boicotada socialmente por isso. Emma Bedford era imensamente rica e de uma família impecável. Parecia-se muito com Kitty, mas, apesar disso, era bondosa e afável e tinha uma visão larga e caridosa da humanidade, sem que fosse imbuída de sentimentalismo. (“Que diabo, Jerry”, dizia ela com sua voz alegre, “não podemos deixar de ser humanos, não é?... embora alguns de nós sejamos mais humanos do que os outros, assim como, por exemplo, as prostitutas e os canalhas. Quem foi mesmo que disse que a vida é uma tragédia para o homem que sente e uma comédia para o homem que pensa? Sim. Acho que é uma grande comédia, no sentido dramático e, contanto que não a levemos muito a sério, não corremos perigo. Estou certa?”)
Ao contrário de outros homens, Jeremy ocultava de Ellen todos os sinais de infidelidade, pois a amava muito. Sua ternura pela esposa parecia aumentar. Quanto a Ellen, se viesse a saber das aventuras do marido, morreria, pois seu conhecimento da humanidade era ainda mais instintivo do que objetivo e, portanto, não podia ser definido. Uma infidelidade, para ela, significaria que Jeremy não mais a amava e que a rejeitava por alguma falha terrível de sua parte. Não tinha a menor ideia sobre a natureza do sexo masculino e sua irresistível propensão para a poligamia. Quando Kitty lhe dissera, certa vez: “É uma grande ilusão uma mulher esperar que o marido lhe seja fiel”, Ellen ficara horrorizada. Replicara:
— Kitty, você está exagerando e sendo maliciosa, como sempre. Eu jamais acreditaria que Jeremy me é infiel, tanto quanto não acreditaria que eu seria capaz disso. É um insulto a Jeremy e a todos os bons maridos.
Ellen nunca dava ouvidos a mexericos, ou então, quando era obrigada a ouvi-los, acreditava sinceramente que as histórias eram contadas apenas para divertir os outros, ou que eram falsas e maliciosas. Só o pensamento de que uma mulher pudesse sentir atração por outro homem, além do marido, era-lhe não somente repugnante, como inacreditável. Não tinha percepção do mundo à sua volta, das Lillian Russels e dos Diamond Jim Bradys, mas essas pessoas existiam num mundo incrivelmente teatral e ela estava convencida de que também isso era “exagero”. Lia romances tanto em inglês, como em francês, mas, afinal de contas, eram “apenas romances”. Não sabia que havia à sua volta muitas Madames Bovarys. Quanto a Dom Juans, não existiam na América cristã. Sobre esse assunto, Jeremy alimentava a inocência de Ellen, privando-a de um conhecimento corrosivo, pois essa inocência, por mais que às vezes o irritasse, não poderia ser destruída sem torná-la menos querida a ele.
— Ellen acredita piamente na santidade do lar e na pureza do leito conjugal — dissera Kitty certa vez a Jeremy, rindo. —
Realmente, querido, ela é ainda como uma criança. — Vendo a expressão sombria de Jeremy, Kitty acrescentara, vivamente:
— Acho que, de certo modo, isso é muito bonito. — Como ele não respondesse, Kitty continuara, um tanto temerariamente:
— Por que será, meu amor, que os homens consideram a castidade a mais importante virtude nas mulheres, principalmente nas esposas, quando a castidade é principalmente uma consequência de falta de tentação, ou de estupidez, ou de falta de oportunidade? Ou o medo de gravidez?
Jeremy não pudera deixar de rir.
— Creio que tudo é devido aos direitos de herança. Os homens querem ter certeza de que aqueles que herdarão seus bens sejam realmente seus filhos; as mulheres, também, são propriedade dos maridos e eles não desejam partilhá-las com outros homens. Seria muito complicado.
Kitty não achou isso paradoxal, embora Ellen o tivesse achado, além de inacreditável. Na opinião de Ellen, o amor entre marido e mulher era inexpugnável. Embora fosse muito mais sábia que suas contemporâneas, em muitos setores, além de mais inteligente, seu conhecimento da verdadeira natureza da humanidade e de suas motivações ainda era fragmentário e perturbador. Quando tinha uma repentina compreensão, procurava imediatamente pensar em outra coisa.
Ellen raramente falava no assunto, mas as ausências longas e frequentes de Jeremy, a hora tardia em que chegava a casa faziam-na sentir-se solitária e desolada. Ela patrocinava a Metropolitan Opera Company, o Metropolitan Museum, várias galerias de arte e começou a colecionar objetos de arte para suas casas. Aprendera a pintar e o fazia com originalidade e delicadeza. Seus dias estavam quase todos tomados por almoços com senhoras com quem tinha afinidade, e passava horas ao piano, tocando e cantando baixinho para si mesma. Sua casa era muito bem dirigida. Os filhos absorviam todos os seus pensamentos, quando estava em casa. Mas havia longas semanas e longas noites nas quais Jeremy ficava fora de casa e Ellen sentia o antigo desejo pela presença dele, e também saudades, como sentira, sem esperança, desde os treze anos até o dia em que se casara. Os fins de semana eram os piores, pois até mesmo os maridos mais levianos achavam que tinham obrigação de passá-los com a família. Ellen ficava quase sempre sozinha, sem companhia, exceto pelas breves visitas de domingo à tarde, para o chá. Assim, via-se cada vez mais dependente da companhia de seus filhos zombeteiros, que ela jamais conseguia compreender.
Nunca lhe ocorreu que poderia arranjar um amante num abrir e fechar de olhos, pois sua beleza aumentara com o tempo e eram muitos os olhares demorados e pensativos que os homens lhe lançavam, sendo várias as insinuações veladas, que ela jamais reconhecia. Kitty, entretanto, percebia tudo isso e intimamente ficava furiosa, com inveja e ódio. Que é que os homens viam naquela criatura desleixada, aquela pera madura demais, aquela tola? Kitty detestara Ellen desde o princípio por causa de sua mocidade e de seu encanto cativante; mas, como agora Kitty era uma mulher de meia-idade, o ressentimento às vezes a atormentava durante horas e fazia com que imaginasse para Ellen deformidades, calamidades e até mesmo a morte. Mas a única vingança que parecia a seu alcance eram os filhos de Ellen. Kitty sabia de tudo a respeito deles, às vezes sentia mesmo uma curiosa afeição por aquelas crianças. Cultivava-as, portanto; além do mais, eram filhos de Jeremy. Nunca tendo sido muito franca, Kitty era às vezes capaz de, com olhos sorridentes, uma inclinação de cabeça, trejeitos da boca pintada e entonações da voz, influenciar Christian e Gabrielle no desprezo que tinham pela mãe. Não era preciso muito esforço para isso. O desprezo existia quase que desde o nascimento. No verão de 1912, os dois tinham perdido qualquer afeição que alguma vez tivessem sentido por Ellen, achando-a irremediavelmente ridícula e, portanto, um bom alvo para zombarias, desobediência e falta de respeito.
Uma ou duas vezes por ano, contra a vontade de Jeremy, Ellen levava os filhos e Annie Burton a Wheatfield, para “visitar a pobre e doente tia May”. As crianças detestavam esses passeios, achavam May ainda mais desprezível do que Ellen, e os agrados da Sra. Eccles não lhes causavam o menor prazer. Quando Christian certa vez se queixara, o pai dissera, com fria severidade:
— Há na vida muitas coisas que temos que fazer, filho, mesmo quando não são interessantes, nem nos causam prazer; é melhor que você aprenda isso o mais depressa possível. Não nascemos só para o que chamamos de “divertimento”. Temos responsabilidades para com os outros, também, e lhes devemos lealdade; como seres humanos, temos deveres.
— Sim, papai — replicara Christian. Jeremy continuara de sobrecenho carregado. Havia nos filhos algumas coisas que o perturbavam, mas como eram encantadores com ele, obedeciam-lhe cegamente e o admiravam e amavam, nunca se queixando, Jeremy encolhia os ombros e os esquecia. Eles nunca arre-liavam Ellen na presença do pai, pois tinham intenção de deixar que Jeremy continuasse iludido, pelo menos por mais algum tempo. Além do mais, Jeremy não hesitava em castigá-los severamente, e por isso o temiam; sendo eles o que eram, o medo aumentava a afeição e o respeito que tinham pelo pai.
A percepção e a sensibilidade de Ellen estavam mais aguçadas naquele verão e havia ocasiões em que sua solidão era intolerável. Sabia que Jeremy estava muito ocupado com a política, uma entidade para ela misteriosa, e que suas ausências eram “inevitáveis”. A solidão, em Long Island, lhe causava uma certa inquietação e uma desagradável premonição. Pintava quadrinhos das belas paisagens dos arredores. Andava pela praia ao entardecer e até mesmo de madrugada. Olhava para o mar e ouvia seu murmúrio, fitava o horizonte e sentia uma imensa tristeza e uma incrível melancolia. Sua única esperança eram as cartas de Jeremy e, quando não as recebia, ela ficava desolada e sua inquietação crescia de maneira intolerável. Às vezes Kitty vinha passar com ela o fim de semana, achando isso um verdadeiro sacrifício, mas Ellen derramava lágrimas de gratidão pela gentileza da amiga. Naquele verão, ela confessou a Kitty:
— Não sei o que há de errado comigo. Sempre gostei daqui, as crianças estão comigo, os empregados... — ela hesitou — e a Srta. Cummings, que tinha direito a um mês de férias, dos quais abriu mão, dizendo que não tinha para onde ir, que gosta do mar e desta casa. E de Christian e de Gabrielle. Muito amável da parte dela, mas, mesmo assim...
— Assim o quê? — perguntou Kitty, avidamente.
Ellen suspirou:
— Acho que a Srta. Cummings pensa que tem obrigação de ficar aqui conosco no verão. É absurdo. Diz ela que precisa dar aulas a Christian durante todo o verão, para que ele possa entrar no internato, no outono. Não quero que Christian vá; Gabrielle também não quer, mas Jeremy insiste. Oh, estou divagando. Acho que tudo é porque sinto falta de Jeremy.
— Ele tem negócios, Ellen. Você precisa entender isso.
— Eu sei, eu sei. Não compreendo o que há comigo! Se eu fosse supersticiosa, diria que tenho um mau pressentimento sobre alguma coisa.
Kitty sabia de tudo a respeito da Sra. Bedford, odiando-a também. Com forçada displicência, disse:
— Talvez Jeremy tenha uma amiguinha. Isso seria normal, com um homem com uma família. Os homens ficam entediados, sabe?... com as esposas e com os filhos.
— Jeremy! — exclamou Ellen. — Oh, não seja tola, Kitty. Isso é um desrespeito e um insulto a Jeremy. — Olhou para Kitty com seus grandes olhos azuis sob a massa de cabelos vermelhos e riu. — Sei que você pretende apenas divertir-me e já me sinto menos infeliz.
“Oh, Deus!”, pensou Kitty. Ela tivera a vaga intenção de despertar as suspeitas de Ellen e es tivera disposta a fazer insinuações a respeito de Emma Bedford. Adivinhava que, sob a doce submissão e a confiança de Ellen, havia uma lâmina de ferro e um fogo que, depois de revelados, poderiam ser de fato perigosos. Kitty ficara perturbada quando, anos antes, descobrira isso pela primeira vez. Sua astúcia natural lhe dissera que, se alguma vez Ellen tivesse que enfrentar a traição e o mal, os resultados seriam imprevisíveis. Poderia ela despertar nela essa fúria adormecida, informando-a sobre Jeremy e Emma Bedford? Era uma tentação. Mas Kitty era cautelosa e gostava de autoproteção. Poderia desencadear algo de incontrolável que talvez a destruísse, a ela, Kitty.
Ellen tentou também pilheriar:
— Eu não deveria dizer que me sinto solitária, ou seja lá o que for, embora sinta falta de Jeremy. Meus vizinhos me convidam para tomar chá e para jantar e os fins de semana são sempre alegres. Charles Godfrey vem quase todos os sábados e fica até domingo à noite. Jeremy o convidou e ele é muito amável. Procura distrair a Srta. Cummings, também, leva-a para longas caminhadas e brinca com Christian e Gabrielle. Às vezes fico imaginando por que nunca se casou. É um bom partido.
Naquela mesma noite, caminhando com a Srta. Cummings ao longo da praia, com as crianças indo à frente, Charles perguntou à governanta:
— Maude, você quer casar-se comigo?
Ela pegou a mão do rapaz e fitou-o, sorrindo. Seu rosto calmo ficou de repente rosado.
— Naturalmente — respondeu no tom mais natural do mundo, como se estivesse apenas confirmando o que já sabia.
Capítulo 24
Apesar de seus mais determinados esforços, Ellen não conseguia afastar sua tristeza. Ia frequentemente a Nova York dedicar-se a suas obras de caridade, mas fazia-o sem interesse. Ia para sua casa, onde agora havia apenas um caseira e uma empregada provisória, que cozinhava para Jeremy quando ele estava na cidade. Com o calor, a casa tinha um cheiro de umidade. Ellen abria as janelas, falava com a empregada e com sua ajudante, examinava a despensa e a copa e andava a esmo pela casa. Almoçava com Kitty; fazia compras e discutiam as novas peças que seriam levadas no outono. Mas nem a multidão, nem Kitty, nem os amigos que tinham ficado na cidade conseguiam modificar o estranho estado de espírito de Ellen. Finalmente, procurou um novo médico que Kitty lhe recomendara, pois estava ficando cada vez mais pálida. O médico examinou-a cuidadosamente. Depois, como era um médico moço, cheio de novas ideias, disse a Ellen, com certa severidade:
— Assim como a maioria das damas da sociedade, Sra. Porter, a senhora não tem suficiente ocupação. Sugiro que se ocupe de obras de caridade, de coisas sérias, que cuide pessoalmente de seus filhos e se interesse pelos assuntos atuais.
Ellen corou, com sensação de culpa, mas depois teve um de seus raros acessos de indignação.
— Doutor, faço todas essas coisas até ficar exausta e de nada adiantam. Sinto falta de meu marido...
— Possessiva — declarou ele, como se quisesse encerrar o assunto. — Preocupação consigo mesma. Cultive o espírito, minha cara senhora. Num destes dias as mulheres terão o direito de voto e não devem estar despreparadas para o novo mundo.
De repente, Ellen sorriu.
— Plus ça change, plus c’est la même chose. Pelo menos é o que meu marido sempre diz e concordo com ele. De vez em quando, entretanto, tudo piora.
O médico ficou admirado e estranhamente ofendido. Aquela mulher bela e jovem, de vestido de linho cinza com rendas e chapéu de palha amarelo, o aborrecera desde o princípio, pois julgara reconhecer nela uma das damas ociosas, ricas e mimadas, que não sabiam o que era ansiedade, nem desespero e que, portanto, não compreendiam nada e não tinham “compaixão pelas massas trabalhadoras”. Os olhos daquela senhora, no entanto, agora não apenas tinham uma expressão divertida, como brilhavam de inteligência. Ele não gostava que discordassem de suas conclusões e, portanto, não gostou de Ellen. Ela saiu do consultório, tendo-se divertido, sensação que durou várias horas e aliviou sua depressão.
No dia seguinte, recebeu um telegrama de Hortense Eccles, de Wheatfield. “Sua tia faleceu serenamente hoje de manhã. Sua presença é necessária para tratar dos funerais.”
Annie saíra com as crianças para o passeio matinal e a Srta. Cummings estava na biblioteca preparando o material para as lições de Christian. Maude ouviu o grito de Ellen, que se achava no hall, e foi imediatamente ao encontro dela. Ellen olhou-a com ar vazio e, sem uma palavra, entregou-lhe o telegrama.
— Oh, sinto muito — disse Maude. — Iremos imediatamente para Wheatfield. Vou indagar sobre o próximo trem.
— Não — declarou Ellen, em tom monótono. — Isto é, vou levar as crianças e Annie. É bastante. Mas, obrigada.
O rosto controlado e os belos olhos da Srta. Cummings não deram indicação de que ficara magoada. Ela disse, apenas:
— Então, precisamos mandar um telegrama para o Sr. Porter. Ele não há de querer que a senhora suporte isso sozinha.
Ellen sacudiu a cabeça lentamente.
— Não. Ele está em Chicago. É muito importante que continue lá. Vai fazer um discurso político num banquete, hoje à noite. Ele... não vê minha tia há anos, embora tenha cuidado dela. Não; não deve ser incomodado.
— Nesse caso, claro que irei com a senhora. Annie terá muito o que fazer com Christian e Gabrielle para poder ser de grande ajuda nesta emergência, Sra. Porter. Vou pedir à empregada que prepare a sua mala e depois irei fazer a minha. Faça o favor de sentar-se, Sra. Porter. Está muito abatida.
Ellen sentou-se de repente numa cadeira do grande hall que ia da porta da frente aos fundos. Ficou olhando para as folhas de um tinhorão trêmulo e para uma roseira que subia por uma treliça — um vermelho vivo contra um verde amarelado. Mas não percebeu a beleza disso. Começou a soluçar. De repente era criança, novamente, ouvindo a voz cansada e autoritária de May na casa pequenina de Preston. Podia ver o rosto da tia, pálido de exaustão e brilhando de suor, devido ao calor do verão, enquanto costurava. Sentiu um cheiro forte de repolho e de carne cozida e viu-se sentada na cozinha da tia, ouvindo suas censuras afetuosas.
— Oh, tia May, querida titia — murmurou então, sentindo remorsos. Esqueceu-se de que May estava com cinquenta e muitos anos, que durante muito tempo levara uma vida confortável graças à sobrinha, cercada de cuidados e de atenções. Sentia apenas culpa por aquela separação. Houvera semanas em que nem se lembrara de May, tão envolvida estivera com sua família, com suas ocupações e com Jeremy. Escrevia para a tia apenas uma vez por semana. Esqueceu-se de que May raramente respondia àquelas cartas, a não ser para se queixar, censurar e acusar. (As cartas de May, na realidade, haviam sido escritas por Hortense Eccles ou pela enfermeira, pois suas mãos estavam quase que completamente aleijadas.) Ellen podia apenas sussurrar, no silêncio quente do hall, com o oceano murmurejando ao longe: “Oh, titia, sinto muito, sinto muito. Eu deveria ter feito alguma coisa por você... Não deveria tê-la abandonado durante tanto tempo. Deveria ter ido visitá-la mais vezes, dando-lhe um pouco de prazer no seu sofrimento. Você, sozinha lá em Wheatfield, sem ninguém para confortá-la ou ajudá-la”.
Ellen começou a chorar, cheia de remorsos. A Srta. Cummings voltou com um cálice de conhaque, seguida de Cuthbert, que, com expressão ansiosa, olhava por sobre o ombro da governanta.
— Vamos, Sra. Porter, tome isso — disse Maude. — A criada está fazendo sua mala para dois dias e a minha mala está quase pronta. Posso sugerir que não leve as crianças?
Os olhos úmidos de Ellen brilharam, fitando Maude com franca antipatia.
— Não levar meus filhos para o enterro da tia! Que absurdo, Srta. Cummings, sugerir uma coisa dessas!
A governanta suspirou e entregou a Cuthbert o cálice vazio. Disse, de novo em voz calma e firme:
— Sra. Porter, seus filhos viram a tia, a Sra. Watson, apenas em raras ocasiões. Não têm a menor afeição por ela. Isso é mais do que natural. Nunca falam nela, o que também é natural. As crianças, em geral, só pensam nelas mesmas. Além do mais, é uma viagem longa e quente e o resfriado de Gabrielle só agora é que está passando. Seria melhor que a senhora e eu fôssemos sozinhas. O trem para Nova York parte dentro de uma hora...
— Não quero que a senhora vá comigo! — gritou Ellen, perturbada. — É obrigação de meus filhos ir ao enterro. Oh, por favor, deixe-me em paz! — Levantou-se de um salto, cheia de tristeza e cólera. Jamais gostara da Srta. Cummings. Sentira-se intimidada por ela, pois havia no caráter da governanta qualquer coisa que a fazia sentir-se inferior e constrangida. Era senhora de si, segura, e as mulheres desse tipo invariavelmente intimidavam Ellen e a faziam sentir-se inferior e incompetente.
— Muito bem — disse a governanta. — Deseja, então, que chame a Sra. Wilder? Talvez ela queira ir com a senhora.
Ellen apertou as mãos trêmulas uma contra a outra.
— Kitty? Kitty? Sim! Não; ela está visitando alguns amigos... não sei onde. Não creio que me tenha dito. Filadélfia? Boston? Oh, não sei. Ela foi ontem à noite.
Um rápido brilho surgiu nos olhos de Maude, assim como nos de Cuthbert. Ellen cobriu o rosto com as mãos, num gesto de desamparo. Murmurou:
— Oh, meu Deus! A senhora tem razão, a respeito das crianças. É uma viagem longa e quente e estão ocorrendo tantos casos de paralisia infantil por aí! Não, elas não podem ir comigo. Creio que terei que aceitar seu oferecimento, Srta. Cummings. — Descobriu o rosto. Estava de novo chorando. — E faça o favor de mandar um telegrama ao Sr. Porter, para que, se ele tentar telefonar-me, possa saber para onde fui. Estou muito confusa.
Viu a Srta. Cummings claramente, pela primeira vez, e teve vergonha de seu rompante.
— Desculpe-me, Srta. Cummings, mas é que estou muito perturbada. Agora, vou trocar de roupa.
A governanta ficou observando Ellen subir correndo a escada e sacudiu a cabeça. Alegrou-se por ter convencido Charles a não comunicar o casamento deles, que se realizaria em outubro. A Sra. Porter já antipatizava bastante com ela e agora manifestara isso claramente. Maude achava que ela era uma das poucas pessoas de quem Ellen não gostava. Não estava magoada com isso. Ninguém sabe que correntes subterrâneas estão sob o comportamento, o amor e o ódio humanos, nem mesmo aqueles que amam ou odeiam. A vida era realmente muito complicada.
Ellen mal falou com a Srta. Cummings na viagem longa, quente e cheia de fuligem, até Wheatfield. O compartimento estava tão quente que elas tiveram que abrir as janelas do trem e com isso ali entravam barulho e fumaça, tornando a conversa quase impossível. Aparentemente calma, como sempre, Maude estava profundamente preocupada com Ellen. Observava o perfil pálido, os lábios trêmulos, os olhos grandes que quase não pestanejavam e sentia uma grande piedade. Os cabelos ruivos faziam a palidez parecer ainda maior, os olhos tinham círculos vermelhos à volta e estavam inchados. “Como ela se castiga, e injustamente”, pensou Maude. “Não é apenas dor o que está sentindo, mas está se castigando, uma fraqueza dos que não são culpados. Os que são realmente maus não sentem culpa, ou, se a sentem, não responsabilizam suas próprias ações e sim as dos outros, que são inocentes.”
Maude era vários anos mais moça que Ellen, mas infinitamente mais amadurecida e traquejada. Acreditava, assim como Spinoza, que sentir remorso é sentir-se duplamente culpado. A isso, ela acrescentava: “Os inocentes estão sempre num estado de autocensura”. Desejava dizer-lhe algumas palavras de consolo, mas sabia que seria repelida, pois Ellen desejava a autopunição, o que, de certo modo, diminuía sua dor. “A flagelação pode atenuar a tortura emocional”, refletiu Maude. A governanta alisou as luvas de seda preta e olhou tranquilamente para a paisagem que passava, tendo de vez em quando acessos de tosse. Como sempre, usava com elegância suas roupas discretas. Ellen encontrara um costume preto para usar, pesado demais para aquele clima, assim como uma blusa preta de gola alta e um chapéu de feltro preto. Gotas de suor escorriam-lhe da testa, mas aparentemente seu sofrimento mental era maior do que o físico, pois ela não enxugava o suor, nem parecia ter consciência do desconforto físico.
O trem chegou a Wheatfield à hora do crepúsculo e ficou esperando, bufando, pela hora de seguir viagem para Pittsburgh. A carruagem da Sra. Eccles esperava pelas duas, um carro fechado puxado por um cavalo, veículo caro, conforme notou a governanta, dirigido por um homem que evidentemente não trabalhava só como cocheiro. Mas ali na cidade pequena o ar era mais fresco. Ellen estava tão ansiosa que tropeçou na barra da saia longa e Maude teve que segurá-la para que não caísse. Ellen libertou-se bruscamente e correu para a carruagem, seguida por Maude, que caminhava calmamente. Quando Maude pôs o pé no estribo, Ellen já estava sentada, torcendo as mãos, inclinada para a frente, como que para impelir o veículo em direção a seu destino. — Depressa, depressa, por favor — murmurou, como se a tia ainda estivesse viva e ela precisasse apressar-se para tentar salvá-la. Maude franziu a testa. Adorara seu pai, o pároco, e cuidara da casa após a morte da mãe, tendo tornado a vida do pai suportável e até mesmo feliz. Quando ele morrera de repente, no púlpito, acreditara que sua própria vida, aos dezenove anos, acabara e não desejara mais viver. Apesar disso, não dera demonstração de angústia, como acontecia agora com Ellen, e tivera uma atitude discreta no enterro do pai, o que lhe valera a admiração dos amigos. “A verdade é que os ingleses são muito mais controlados do que os americanos, o que é ao mesmo tempo sua fraqueza e sua força”, pensou ela.
Maude observou com prazer as arcadas verdes dos olmos, nas ruas, assim como os gramados largos e a luz crepuscular que iluminava os telhados das casas grandes. Ouviu o rangido de cortadores e sentiu cheiro de grama cortada, de água e de pó. Então aquilo era a América. Além de Nova York, Wheatfield era a única cidade americana que conhecia. Era uma América diferente, com pessoas nos terraços e nas calçadas, parecendo mais calmas e mais contentes. Até mesmo os automóveis faziam menos barulho e pareciam menos apressados. Não havia bondes. A cidade era pequena demais. — Depressa, depressa, por favor — murmurava Ellen, torcendo as mãos.
Quando a carruagem, bem antiquada, parou diante da casa de Hortense Eccles, Maude olhou para o prédio e achou que era de muito mau gosto, quase tanto quanto as casas vizinhas, embora fosse maior. Mas os gramados eram largos e coloridos por canteiros de flores. Havia um pequeno parque no fim da rua, cheio de crianças que brincavam e gritavam. Mal a carruagem parou, Ellen desceu, sem esperar que a ajudassem, e correu para a casa, com o vestido preto esvoaçando, a cabeça para a frente, o chapéu caído de lado na cabeça, completamente desarrumada. Maude, como sempre, seguiu-a mais calmamente. A porta foi aberta pela própria Hortense, gorducha e mais velha, mas ainda bem, trajando um vestido de seda cinza e tendo no rosto uma expressão de luto, ao mesmo tempo acusadora e sombria. Ellen passou por ela correndo. Maude estendeu a mão para a Sra. Eccles (com quem antipatizou imediatamente), dirigiu-lhe um sorriso frio e disse:
— Sou Maude Cummings e suponho que a senhora seja a Sra. Eccles. Sou a governanta dos filhos da Sra. Porter.
Para a Sra. Eccles, uma governanta era apenas uma criada.
— Sim, sou a Sra. Eccles — respondeu friamente. — Ellen não tinha uma amiga para acompanhá-la?
— Sou amiga dela — replicou Maude.
— Não diga! — comentou Hortense, achando que aquela jovem, uma criada, estava se comportando de maneira insolente. Acrescentou: — Talvez você queira uma xícara de chá, ou qualquer coisa, enquanto falo com Ellen... quero dizer, com sua patroa. A cozinha fica no fundo do corredor e minha cozinheira lhe dará o jantar lá. — Disse isso com desprezo deliberado. Os empregados tinham que conhecer seu lugar. Além do mais, as maneiras de Maude e sua pronúncia inglesa irritavam-na. Ar de superioridade. Impudência.
Maude conteve um sorriso ante a vulgaridade daquela mulher e disse:
— Eu gostaria muito. Obrigada. Vejo que estão trazendo nossas malas. Com certeza a senhora já resolveu em que quartos ficaremos.
— Você pode ficar com a minha governanta — respondeu Hortense, desprezando mais Maude e achando-a ainda mais antipática. — A Sra. Porter ficará no quarto pegado ao meu, no segundo andar. Suponho... Como é mesmo o seu nome?...
— Maude Cummings.
— Muito bem, Maude. Agora preciso ir-me embora. Você sabe qual o caminho para a cozinha. Minha governanta apreciará sua ajuda para servir o jantar e lavar a louça, depois. Meu sobrinho, o congressista Francis Porter, está hospedado aqui. Nesta emergência, minha criada também apreciará sua ajuda, Maude, de modo que faça o favor de cuidar do quarto do congressista, a partir de hoje à noite.
Maude Cummings, cujo pai fora o filho mais moço de um conde, tendo ele próprio sido o Honorable Gerald Cummings, aluno do Magdalen College, em Oxford, e um homem muito rico, dirigiu-se calmamente para a cozinha, divertindo-se intimamente com a atitude de Hortense Eccles. Achou que a governanta da casa parecia muito mais uma dama do que á patroa e era muito mais cortês. “Realmente, a classe trabalhadora americana é muito louvável, além de gentil”, pensou Maude. A governanta reconheceu imediatamente a classe de Maude e fez tudo para que ela se sentisse confortável na cozinha.
Nesse meio tempo, Ellen correra para o terceiro andar, onde May e sua enfermeira ocupavam quartos pequenos e quentes, sob o telhado, mas que tinham sido bem mobiliados, anos antes, a suas custas. Tinha se lembrado da mobília barata e da pobreza daqueles quartos quando lá morara, insuportáveis no verão e úmidos e frios no inverno. A última das enfermeiras de May, uma jovem pequena, sorridente e amável, de uniforme branco, bem engomado, recebeu-a calorosamente, pois Ellen sempre soubera dar boas gorjetas. Mas Ellen passou correndo por ela, indo para a saleta, que antes fora o seu quarto, e entrou no quarto de May. A morta fora “preparada” com cuidado pela enfermeira e estava com a cabeça sobre as fronhas brancas, as mãos cruzadas no peito. Os cabelos estavam bem penteados, e o vestido de seda marrom era o melhor que May possuía. O rosto cinzento, pequeno, estava emurchecido, mas, apesar disso, tinha um ar estranhamente nobre. As rugas de dor tinham se suavizado e May tinha a majestosa paz da morte. Um abajurzinho fora aceso e a luz amarelada estremecia, no quarto. Havia uma pessoa sentada numa cadeira ali perto, mas Ellen só viu o corpo da tia.
Caiu de joelhos ao lado da cama, pôs a mão sobre os dedos gélidos e desatou em soluços.
— Oh, titia! — gemeu. O chapéu caiu de sua cabeça. — Oh, por que a deixei, ou por que você me deixou? Oh, titia, titia, sinto muito! — Beijou o rosto de May e gemeu desesperadamente. — Lamento ter tido tão pouca consideração. Você tinha razão. Nunca pensei em ninguém, , a não ser em mim mesma. Que vou fazer agora? Que farei agora? — Os cabelos, que tinham sido presos apressadamente, caíram-lhe nas costas. Seu corpo se sacudia em soluços. O rosto estava úmido de lágrimas e de transpiração. A blusa preta estava amarrotada.
Alguém tocou em seu ombro. Ela ergueu os olhos desesperados e viu Francis Por ter a seu lado, com expressão severa, os óculos brilhando à luz do abajur.
— Controle-se, Ellen — disse ele, em tom baixo, mas de censura. — É tarde demais para se lamentar. Tarde demais, tarde demais.
Fazia anos que Ellen não o via. Agora Francis parecia ser a sua consciência e o seu castigo. Parecia tão alto, tão magro, de terno escuro, tão pálido, tão severo, que ela teve vontade de rastejar diante dele e pedir-lhe perdão, embora não soubesse por quê.
— Tarde demais — murmurou Ellen. — Sim, tarde demais.
Como que implorando compaixão, absolvição, ela encostou a face molhada na mão de Francis sobre seu ombro. Não sentiu o tremor daqueles dedos, não percebeu o súbito calor de volúpia que os agitou. Nem mesmo sentiu o movimento furtivo da outra mão de Francis sobre o seu corpo, a pressão, as apalpadelas. Não sentiu nada, nem mesmo quando a mão chegou ao seu pescoço branco e desceu sob a gola desabotoada, chegando a tocar-lhe o seio.
— Perdoe-me — murmurou ela. — Oh, perdoe-me.
— Ainda não — respondeu Francis, com voz rouca. — Ainda não. Oh, Ellen! — continuou em tom ainda mais baixo. — Oh, Ellen!
O seio da moça era macio e branco. Ela estava quase desfalecida. ,
— Jeremy — murmurou, ainda sem saber onde estava. Encostou-se no quadril de Francis, naquela câmara de morte. Ele teve um assomo de desejo; beijou os cabelos revoltos e nem mesmo assim ela soube o que estava acontecendo. Francis julgou que ela soubesse e ficou feliz.
Capítulo 25
Maude entrou no quarto de Ellen às oito horas do dia seguinte, levando uma bandeja com o desjejum. Na véspera, um médico fora chamado para dar-lhe um sedativo, pois ela estava visivelmente atordoada e fora de si. Agora estava deitada, pálida, silenciosa e indiferente. Maude abriu as pesadas cortinas marrons e deixou que o sol brilhante da manhã penetrasse no quarto. Com sua voz tranquila, disse:
— Sra. Porter, preparei este gostoso desjejum e a senhora precisa comer se não quiser ficar doente. Não jantou ontem à noite. Que é que o Sr. Porter diria? Por falar nisso, recebemos um telegrama avisando que ele chegará hoje à noite. Infelizmente não virá a tempo para o enterro, à tarde.
Ellen sentou-se vivamente.
— Jeremy! Oh, graças a Deus. — Começou a chorar, mas não com o desespero da véspera. — Preciso dele. — Corou levemente e perguntou: — Mas e Chicago?
— Tenho certeza de que ele fez o seu discurso e tem intenção de chegar o mais depressa possível. Agora a senhora precisa comer alguma coisa. O Sr. Porter não pode encontrá-la neste estado. Ele ficaria triste e não queremos isso, não é?
— Sonhei que ele estava aqui, junto a mim, quando me ajoelhei ao lado da cama de minha tia — disse Ellen. Ficou um pouco mais corada e continuou: — Devo ter pegado no sono, lá. Eu estava tão cansada! — Corriam lágrimas de seus olhos, mas ela estava mais calma. Olhou para a bandeja e disse: — Obrigada, Srta. Cummings. Foi muita bondade sua. O enterro? Sim. Minha tia gostava muito de Wheatfield; sentia-se em casa, aqui. Nunca se sentiu em casa em Nova York. Não me perdôo por tê-la levado embora.
— A senhora não precisa de perdão para coisa alguma — replicou Maude, suavemente.
Ellen empertigou-se imediatamente, olhando para Maude com a antiga antipatia.
— A senhora não sabe, Srta. Cummings — disse em tom emburrado. — Obrigada, novamente. Vou tentar comer alguma coisa.
“É muito difícil uma pessoa perdoar-se a si própria, principalmente quando não tem nada a censurar-se”, pensou Maude. Ellen tentou comer os figos cozidos e as ameixas e perguntou:
— Será que sonhei, ou o Sr. Francis está mesmo aqui?
— Ele está aqui — respondeu Maude, num tom estranho. Na véspera ela saíra da cozinha, indo procurar Ellen para consolá-la, e vira que suas roupas estavam, como se poderia dizer discretamente, “em desalinho”, com Francis avidamente inclinado sobre ela. O olhar frio e duro de Maude e seu franco desprezo ao vê-lo debruçado sobre Ellen não apenas o tinham assustado, como lhe haviam causado vergonha e cólera. Tinham se entreolhado num silêncio terrível; depois Francis se virara, com o rosto ligeiramente contorcido. Fora Maude quem levara Ellen para o quarto, chamando o médico.
— Jeremy não gosta do Sr. Francis, embora o Sr. Francis tenha sido realmente o único amigo que tive durante anos. Estou contente por ele estar aqui — disse Ellen. Tomou um gole de chá, as lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto.
— Sim — disse Maude. — Agora experimente esses bolinhos. Eu mesma os fiz. A geleia de morango está ótima.
— Sentou-se perto de Ellen e fitou-a com ar sério. — Sra. Porter, perdi meu querido pai quando tinha dezenove anos. Ele era tudo o que eu tinha no mundo. Não me refiro a tios, tias e primos. Tive que me conformar. Tive que aceitar as coisas como eram. Vim para a América sozinha, para analisar-me friamente e ver o que queria fazer da minha vida. A morte é tão natural como o nascimento, e faz parte de nossa vida. Quando chegamos a compreender isso, tornamo-nos invulneráveis, apesar da dor.
A antipatia de Ellen pela governanta aumentou.
— A senhora não compreende. Minha tia trabalhou e sacrificou-se por mim durante muitos anos. Passou fome, para que eu pudesse comer. Eu era órfã e ela foi minha mãe. Mas fui ingrata; não a levei em consideração. Eu... abandonei-a. — Ellen enfiou o rosto no travesseiro e recomeçou a soluçar. — Não pensei em ninguém, a não ser em meu marido e em mim, embora meu maior-dever fosse para com minha tia.
Maude franziu as sobrancelhas com impaciência e uma ligeira repulsa.
— Sra. Porter, o maior dever de uma mulher é para com seu marido, para com seu amor. Ouvi dizer que a senhora fez o possível pela Sra. Watson; não devia recriminar-se...
— A senhora não sabe! — gritou Ellen. — Oh, por favor, vá-se embora e me deixe sozinha, hoje, no dia do enterro! — Empurrou a bandeja e chorou convulsivamente. Maude pegou a bandeja, onde a comida mal fora tocada, e saiu em silêncio, sacudindo a cabeça. Ellen continuou soluçando e repetindo:
— Jeremy, Jeremy. Venha logo, ou morrerei.
Foi Maude quem vestiu Ellen para o enterro, com o vestido preto, sujo, com o qual viajara. Foi Maude quem, com firmeza, tirou Ellen do quarto de May, para que o agente funerário pudesse ultimar os preparativos e colocar a morta no caixão de bronze. Foi Maude quem disse a Hortense Eccles, com energia, que um padre qualquer “não serviria” e chamou um padre da Igreja Anglicana. Foi Maude quem encomendou flores, apesar do comentário ultrajante de Hortense:
— Ela não passava de uma criada, como Ellen. As flores são desnecessárias. Ninguém comparecerá ao enterro, a não ser meu sobrinho e eu, por piedade e consideração.
— As flores são para os vivos — comentou Maude. — Confortarão a Sra. Porter.
— Como se ela precisasse de conforto! — observou Hortense. — Abandonou a pobre tia à minha compaixão cristã.
— E tenho certeza de que a senhora a deu a ela — replicou Maude.
Hortense não pôde deixar de perceber a ironia e ficou ainda mais ofendida.
— Como é que ousa falar comigo desse jeito! Você, que não passa de uma criada, uma presunçosa!
A neta de um conde encarou a Sra. Eccles e esta se sentiu “diminuída”.
— Não passa de uma criada — resmungou Hortense. — Você assume responsabilidades em demasia. Jamais gostei dos ingleses. Eles se julgam melhores do que são. Vou ter uma conversa com o meu querido Jeremy. Ele também não gosta de insolência nos criados, embora eu não entenda como é que não pensou na classe a que Ellen pertencia e se casou com ela.
— Eu sei — replicou Maude. — A Sra. Porter nunca foi uma criada: É uma dama.
Hortense virou-se para ela, com ar incrédulo.
— Como é que você pode saber, quando também não passa de uma criada? Vou falar com o Sr. Porter. Ele a despedirá imediatamente. Tenho certeza disso. Você então ficará na rua, que é o seu lugar. — Hortense afastou-se com um sorriso de satisfação.
“Que mulher odiosa”, pensou Maude, em nada perturbada com aquela conversa.
Foi para a sala, onde o caixão havia sido colocado numa armação. Estava aberto e nas mãos de May havia um ramo de lírios brancos. Rosas brancas cobriam suas pernas e seus pés deformados. As cortinas estavam cerradas; dos lados do caixão, velas acesas lançavam na sala uma luz trêmula. Ellen estava sentada ao lado da tia, as mãos sobre seus cabelos, sem vida mas bem penteados. Estava num estado de semi-estupefação, mas não chorava. Seus cabelos ruivos brilhavam. Fora Maude quem os penteara. Os olhos fixos de Ellen tinham uma expressão apagada; os lábios desbotados estavam entreabertos, como se ela estivesse tendo dificuldade para respirar. Seu traje negro parecia mais funéreo do que o da morta. Francis estava à sua direita, olhando apenas para ela. Por um momento Maude teve pena dele, refletindo que um homem não acaricia uma mulher sensualmente em presença da morte (e certamente não um homem como Francis) a não ser que estivesse tomado de uma emoção extraordinária e incontrolável.
A Sra. Eccles estava ao pé do caixão, com todo o decoro, as mãos unidas como numa prece, uma expressão solene no rosto. Havia algumas pessoas presentes, relações da Sra. Eccles, e também elas mantinham uma atitude discreta, lançando à amiga olhares afetuosos. Os olhares dirigidos a Ellen já não eram tão amáveis. Era uma jovem que, sem sentimento, abandonara sua tia, uma mulher só, negligenciando-a vergonhosamente. Não fosse por Hortense, que com seu grande coração recebera a infeliz criatura em sua casa e tratara dela como uma irmã, só Deus sabia o que teria acontecido a May Watson. Provavelmente teria ido para um asilo de velhos, ou para alguma pensão barata cheia de insetos e com cheiro de repolho e de gás, onde certamente teria morrido.de fome, sozinha. À porta da sala, estavam os empregados da casa, ávidos por situações dramáticas.
Os amigos da Sra. Eccles murmuravam entre si que era incrível que um deputado de Washington, um deputado de verdade, sobrinho da Sra. Eccles, tivesse condescendido em comparecer ao enterro de uma criada. Que cavalheiro ele era, que bondade, que humanidade! Maude, que era perspicaz e tinha muito bom ouvido, não pôde deixar de achar graça. Ela agora sabia qual o motivo que trouxera Francis Porter para ali e de novo teve pena dele.
O padre chegou com seu secretário. Estava com suas vestes clericais. Era um homenzinho corado, que não considerava a morte uma calamidade; conhecia demais a vida para lamentar sua extinção. Ellen não ouviu o serviço rápido. Estava num estado de apatia, no qual revivia seus anos de infância, vendo, não a morta, mas a tia que a amara e roubara comida para ela, que a educara e a protegera. Não percebeu que a faziam levantar-se. Lá fora, piscou, ao sol quente, deixando que Maude e Francis a levassem para a limusine que estava à espera. Olhou à volta com expressão vazia. As mãos enluvadas de preto estavam cruzadas molemente. Não tinha consciência das pessoas a seu redor. Olhou pelo vidro do carro para as ruas conhecidas por onde caminhara e onde chorara. Um cacho de seus cabelos se soltou e caiu sobre o ombro. Francis não podia desviar dele o olhar; lembrava-se como aquele cabelo parecera, macio contra seus lábios, na noite anterior, e também perfumado e quente, e sentiu uma grande dor. Evitava olhar para a Srta. Cummings, que considerava apenas uma criada, sem graça e humilde, apesar da expressão de fria censura e de incredulidade que notara em seu olhar na véspera.
O carro fúnebre ia na frente, lentamente, e outros automóveis o seguiam. Nas calçadas, as pessoas olhavam a procissão com curiosidade. Ellen nada sentia; era como se estivesse drogada. Quando caiu sobre o ombro de Francis, foi como se aquele ombro fosse de madeira. Francis teve um ofego; mal podia respirar. Foi o momento mais doce de sua vida e desejou tomar Ellen nos braços. Mas viu o brilho do olhar de Maude e odiou-a. Mesmo assim, era maravilhoso sentir o peso de Ellen contra ele, a face contra seu ombro e a respiração irregular contra o seu queixo. Não queria que aquele trajeto terminasse; desejava que continuasse para sempre, embora houvesse outras pessoas presentes. “Pobre homem”, pensou Maude, que ouvira Cuthbert falar de Francis, em casa de Jeremy. Como se lesse a mente do rapaz, Maude sabia que Francis estava pensando nas carícias que fizera a Ellen na noite anterior e lembrando-se do seio branco e macio, do pescoço e do colo. “Ela não resistiu”, pensava Francis. Ellen soubera que ele estava ali. Sentira as mãos dele em seu corpo e não se afastara. “Ellen, Ellen”, pensou ele. “Que faremos, você e eu?” Não lhe pareceu estranho o fato de ter perdido o controle na noite anterior. Lembrava-se de tudo com alegria e excitação. Via-se como amante de Ellen, quando ela se recuperasse de sua dor. Não. Melhor ainda, via-a como sua esposa, embora não passasse de uma criada. Ele a prezaria, sempre, com uma suave condescendência, mantendo-a no seu lugar, humilde e dócil, grata pela sua proteção, grata por ter ficado livre daquele bruto que nem mesmo estava presente para consolar a esposa.
No cemitério, Ellen ouviu as preces do padre, como se estivesse a uma grande distância. Estava cambaleante. Agora Francis podia pôr o braço à volta dela com maior alegria ainda, para ampará-la. Ellen tinha uma sensação de morte. Quando o padre atirou um monte de terra no caixão, ela soltou um único gritinho. Alguém dizia, como um eco distante: “Sou a ressurreição e a vida... ” Depois alguém a segurou, levando-a dali.
— Francamente, parece até que ela ligava para a coitada da May — murmurou Hortense para os amigos. — Mas era o contrário, posso garantir-lhes. Que bondade de Francis, levá-la até a limusine! Ele sempre teve tanto coração, tanta simpatia pelas massas, até pelas pessoas mais insignificantes. Olhem para
o meu querido. Parece até que ela é esposa dele, em vez de uma criada que o serviu muitas vezes em minha casa. Francis sempre teve muita consideração com Ellen; ele e eu éramos os únicos amigos dela, e ainda somos.
Hortense Eccles aproveitara a ocasião da morte de sua “criada” para homenagear seu sobrinho, o deputado, com um chá após o enterro. Em voz abafada, informara a Srta. Cummings sobre isso e sugerira que ela ajudasse Ellen a “arrumar-se” um pouco, em homenagem à tia morta. A Srta. Cummings replicara, com uma calma frieza:
— A Sra. Porter está muito doente e em estado de choque. Acho que deveria ficar no quarto, descansando, e que a devem desculpar por isso.
A Sra. Eccles replicou, em voz menos abafada:
— Você é uma presunçosa, Maude! Informe Ellen imediatamente de que ela deve aparecer, em homenagem à tia e ao Congressista Porter, que condescendeu em vir para esta ocasião... uma grande honra para Ellen. Seria censurável se ela não comparecesse ao meu chá; um insulto imperdoável.
Maude hesitou. Olhou para Francis, que estava um pouco afastado, e para as duas amigas que tinham acompanhado Hortense ao enterro, assim como para o padre. Francis fitou-a com expressão de censura e altivez e Maude se lembrou de que Ellen falara dele com gratidão. Subiu para o quarto. Ellen estava deitada na cama, num estado de semi-estupefação, os olhos fixos na parede em frente, a roupa amarrotada, os cabelos em desalinho, o rosto imóvel e pálido.
— A Sra. Eccles quer que a senhora desça para o chá, em memória de sua tia. Aconselho-a...
Ellen sentou-se de repente, rígida.
— Claro. Estive pensando apenas em mim mesma, coisa que tia May sempre me censurava. É muita bondade da Sra. Eccles.
Pôs para fora da cama as pernas compridas e começou a arrumar os cabelos, desesperadamente. Os olhos vermelhos estavam ainda mais inchados, embora ela não estivesse chorando.
— Aconselho-a a descansar, para estar pronta para voltar para Nova York amanhã à noite — disse Maude.
Ellen lançou-lhe um olhar colérico e seus lábios tremeram.
— É o mínimo que posso fazer, agora. Gostaria que a senhora parasse de se intrometer em meus negócios particulares, Srta. Cummings. Além do mais, tenho certos assuntos financeiros a discutir com a Sra. Eccles. — Levantou-se bruscamente e cambaleou, sendo amparada por Maude. Ellen repeliu-a, com um gesto de desespero.
Os convidados já estavam chegando, falando em voz baixa, enquanto Maude penteava os cabelos de Ellen, procurando alisar, o quanto possível, o vestido amarrotado. Sentia muita pena dela, mas também uma grande impaciência. Quando iria a pobre mulher distinguir entre amigo e inimigo e compreender, pelo menos um mínimo, o comportamento rude e cínico das pessoas, para poder proteger-se? Embora vários anos mais moça do que Ellen, Maude se sentia infinitamente mais velha, e muito cansada. O quarto se refletia em três espelhos e em todos eles Ellen parecia exausta, desalinhada e doente. As vidraças brilhavam com os últimos raios de sol e fazia muito calor. Quando Maude tentou ajudá-la a descer a escada, Ellen a repeliu de novo, agarrando-se à balaustrada e descendo lentamente. Havia no hall lá embaixo um cheiro de chá quente, de geleia de morango, de presunto, de pão fresco e de bolos. Ellen parou na escada, abaixou a cabeça e engoliu em seco. Mas Maude não a tocou, embora também tivesse parado.
Lá embaixo, Hortense estava tocando Lead, kindly light, solenemente, e cantando. Os convidados juntaram suas vozes à dela, no cântico religioso. “Que mau gosto”, pensou Maude, vendo o rosto pálido de Ellen contrair-se. Francis foi ao encontro delas ao pé da escada, enfiou o braço de Ellen no seu e conduziu-a para a sala grande, onde agora havia pelo menos uma dúzia de pessoas, homens e mulheres. Maude ficou à soleira da porta. Sabia que não era bem-vinda, que não fora convidada, mas ficou ali como uma criada, cheia de solicitude por Ellen, que se sentara ao lado de Francis. Este inclinou-se para ela como um pássaro negro, murmurando-lhe qualquer coisa. Ela tentou responder, mas seus lábios apenas se moveram, sem que saísse uma única palavra.
A Sra. Eccles viu Maude e deixou o piano, aproximando-se dela e dizendo, em tom autoritário:
— Vá para a cozinha imediatamente e ajude a copeira a servfr meus convidados. Tenha cuidado com a minha porcelana; é muito antiga, muito valiosa e uma herança de família. E os talheres serão contados, depois. Por mim. — Olhou severamente para Maude, que teve vontade de rir. A Sra. Eccles continuou: — Acho o cúmulo você não ter posto na mala da Sra. Porter um vestido preto extra. Mas as criadas, hoje em dia!...
Maude, de certo modo, perdeu sua habitual compostura e replicou:
— Minha senhora, não sou uma criada. Mas não creio que a senhora seja capaz de discernir isso.
Dirigiu-se calmamente para a cozinha, onde sabia que seria tratada com mais delicadeza e mais amabilidade. Hortense ficou olhando-a, furiosa e ofegante. Sim, precisava dizer a Ellen que despedisse aquela criatura impertinente, e logo.
Francis levou, pessoalmente, uma xícara de chá para Ellen, gesto muito amável, na opinião de Hortense, cujo rosto rechonchudo estava vermelho de raiva por causa de Maude. Francis insistiu para que Ellen tomasse o chá, o que ela fez, humildemente. Mas ela virou a cabeça ao ver a comida, que estava sendo devorada pelos convidados. As vozes destes, depois do xerez, já não eram tão abafadas. A luz do fim da tarde insinuava-se pelas janelas estreitas, que estavam abertas e deixavam entrar na sala um odor de pinheiro, de flores e de grama. Maude voltou com chá fresco e mais comestíveis, satisfeita por ter oportunidade de observar Ellen disfarçadamente. Hortense a criticava, dando-lhe ordens em tom brusco e autoritário. Mas alguns convidados acharam que a criada inglesa tinha “classe” e era competente, imaginando se poderiam convencê-la a mudar de emprego com a promessa de um salário mais alto. Uma delas, uma senhora muito imponente, perguntou-lhe, baixinho:
— Você é boa cozinheira, menina?
— Excelente, minha senhora — replicou Maude modestamente, afastando-se graciosamente com o bule na mão.
Todos se aproximaram de Ellen para lhe dar pêsames de um modo afetado e condescendente, pois muitos se lembravam do tempo em que ela estivera empregada naquela casa. Ellen apenas inclinava a cabeça, distraidamente. Seus cabelos captaram um dos últimos raios de sol e ganharam um brilho avermelhado, fazendo com que seu rosto parecesse ainda mais abatido. Os convidados começaram a retirar-se, beijando Hortense no rosto, inclinando a cabeça e dizendo-lhe, com admiração, o quanto ela fora bondosa por ter homenageado tão generosamente uma criada e sua sobrinha. Hortense empertigou-se, autocongratulando-se.
Depois que o último convidado partiu, Hortense sentou-se ao lado de Ellen e de Francis e disse, em tom decidido:
— Agora, precisamos ser sensatas, Ellen, e discutir certos assuntos. Está me ouvindo? Deus do céu, como parece distraída! Escute, por favor. Você vai partir amanhã à noite e, por mais duro que seja para você, certas coisas precisam ser decididas.
— Sim — disse Ellen, mexendo numa das dobras do vestido preto.
— O enterro... tenho a conta... custou oitocentos dólares. Foi de muito bom gosto e o caixão era de bronze. Houve também certas gratificações. E as flores que sua criada encomendou, contra a minha vontade. E a espórtula para o pastor, que não era da religião de sua tia, mas sua criada insistiu. Uma empregada muito pouco satisfatória, na minha opinião, e você deveria despedi-la por causa de sua insolência com todos nós. Computando tudo, acho que mil e quatrocentos dólares cobrirão as despesas. Você tem esta quantia, aqui?
— Não — respondeu Ellen. A Sra. Eccles olhou para o sobrinho, comprimindo os lábios. — Eu... não pensei nisso. Saímos tão de repente! Tenho apenas uns cem dólares aqui comigo.
— Está certo. Mas, com certeza, você pode fazer um cheque.
— Sim — respondeu Ellen. A dobra do vestido estava agora toda torcida em seus dedos.
— Espero que esteja grata por tudo o que fiz — disse Hortense. — Tive muito trabalho por sua causa, Ellen, e várias despesas pessoais. Não estou pedindo nada por isso. Mas acho que eu deveria ser paga por todo este mês.
— Sim — respondeu Ellen. Francis inclinou a cabeça, concordando, austeramente.
— Quanto aos artigos pessoais de sua tia... Minha igreja ficará grata, se os receber. Cobertores, lençóis, toalhas, xales e roupas. Terei prazer em fazer isso por você e livrá-la do trabalho de separar as roupas.
— Sim — disse Ellen.
“Deus do céu”, pensou Maude, à soleira da porta, onde se achava numa deliberada paródia de humildade.
— E há também as últimas contas do médico e os remédios. Direi ao médico que lhe mande a conta.
Ellen suspirou. Agora seus olhos estavam cheios de lágrimas. Vendo isso, Hortense disse, severamente:
— Sei que você tem a consciência pesada, Ellen, embora agora seja tarde demais para fazer alguma coisa. Você negligenciou sua tia, vergonhosamente. Talvez, como compensação, queira fazer um donativo para a minha igreja. Digamos: cem dólares.
Ellen começou a soluçar, abaixando a cabeça. Francis colocou a mão no ombro dela, sentindo o calor da carne sob a seda preta, e de novo ficou profundamente emocionado. Maude sorriu ironicamente. Olhou por acaso pelas janelas de cada lado da porta de entrada e com grande prazer e alívio viu que o homem que se aproximava da casa era Jeremy Porter. Maude correu para a porta, para que ele não precisasse tocar a campainha, e abriu-a silenciosamente, enquanto a voz cruel da Sra. Eccles continuava a soar atrás dela.
Maude puxou a porta e chamou Jeremy de lado.
— Preciso falar com o senhor, e logo. A Sra. Porter está abaladíssima e seus... amigos... não estão fazendo nada para ajudá-la. O congressista, o Sr. Porter, está aqui.
O rosto de Jeremy estava tenso. Ele ficou ouvindo, enquanto Maude falava baixinho. Sua expressão se tornou terrível, suas mãos estavam fechadas. Ele estava cansado e sujo depois de uma viagem longa, mas seu espírito forte fez com que desse toda a atenção a Maude.
— Sugiro que tire a Sra. Porter daqui hoje mesmo e a leve para um hotel — disse a governanta.
— Claro — respondeu Jeremy. Olhou para a moça com gratidão, compreendendo tudo. Acompanhou-a depois até a sala e viu sua esposa caída numa cadeira, arrasada. Francis tinha o braço à volta dela e a Sra. Eccles estava inclinada severamente sobre Ellen, ainda falando:
— Nada pode diminuir sua culpa, Ellen. Você terá que viver com essa lembrança e rezar para obter perdão. Fiz todo o possível por sua tia, como uma irmã. Não peço recompensa. Deixo isso ao Todo-Poderoso. Só posso dizer que você não tinha o direito de abandonar sua tia. Deveria ter ficado com ela, em minha casa, de acordo com sua condição social. Mas você nunca sentiu gratidão pelos cuidados que tive com você, como uma mãe. Insistiu em fugir, como uma moça má, sem pensar nos sentimentos dos outros, nem no dever que tinha para com os outros.
Jeremy entrou na sala e dirigiu-se imediatamente para a esposa. Francis e Hortense fitaram-no, estupefatos, e Francis retirou imediatamente o braço à volta da cintura de Ellen. Mas Jeremy só olhava para sua mulher. Ela o viu, finalmente, e levantou-se, trêmula, atirando-se nos braços dele, soluçante.
— Vim o mais depressa que pude, querida — disse Jeremy. — Vou tirá-la desta maldita casa e levá-la para um hotel. A Srta. Cummings foi fazer a sua mala.
Francis levantou-se, com um rubor no rosto magro e geralmente pálido.
— Você está insultando minha tia, Jeremy. Ela tirou um grande fardo dos ombros de Ellen, tomando conta de tudo. Você, naturalmente, não estava aqui. Estava em Chicago fazendo um de seus discursos inflamados e subversivos! Minha tia, com seu jeito maternal, fez tudo por Ellen, nesta dolorosa ocorrência, poupando-lhe os detalhes tristes.
— Cale a boca — disse Jeremy. — Num destes dias vou cuidar de você, de uma vez por todas, Frank. — Os olhos de Jeremy luziram na semi-obscuridade da sala e ele fez com as mãos um gesto de quem deixava aquele assunto para mais tarde. Abraçou Ellen, que estava trêmula e cambaleante.
— Ela a questão das contas — disse Hortense, falando pela primeira vez. — Já dei os detalhes a Ellen.
— Quanto? — perguntou Jeremy, por sobre o ombro da esposa.
Hortense passou a língua no canto da boca.
— Acho que dois mil dólares cobrirão tudo.
— Muita bondade sua — replicou Jeremy. — Farei o cheque antes de sairmos.
— Não acho que Ellen esteja em condições... — começou Francis, com uma mancha vermelha em cada uma das faces.
— Cale a boca — disse Jeremy, novamente.
— Como é que você pode ser tão grosseiro com os únicos amigos que Ellen tem? — exclamou Hortense. — Os únicos amigos que ela tem no mundo! Eu tinha uma melhor opinião de você, Jeremy, até há pouco tempo. Agora vejo que é um homem brutal e cruel, sem consideração com pessoa alguma.
— Ótimo — replicou Jeremy. — Espero que seu sobrinho se lembre disso.
Mas Ellen se desvencilhara dos braços do marido. Ficou diante dele, trêmula, o rosto pálido erguido numa expressão de censura, um brilho nos olhos inchados.
— A culpa foi sua, Jeremy, de ela ter morrido aqui sozinha, sem mim! Você a mandou embora quando eu estava com você em Washington! Quando voltei para casa, você me disse que ela quisera que fosse assim, para me poupar o sofrimento da despedida, mas agora sei que não foi verdade! Ela queria ficar comigo, em Nova York.
— Quem é que lhe contou essa maldita mentira? — perguntou Jeremy, sem a menor suavidade na voz.
— A Sra. Eccles. Ela me disse que a pobre tia May chorava muitas vezes e dizia que você a tinha mandado embora, para ficar livre dela — disse Ellen, em voz rouca.
— Não seja idiota, Ellen. Você sabe perfeitamente que sua tia queria partir, conforme ela mesma lhe disse naquele dia. Insistiu em vir para cá. Claro que você se lembra. Ellen, pelo amor de Deus, encare a realidade, pelo menos por uma vez. Sua tia queria voltar para Wheatfield; ela chorou por causa disso inúmeras vezes, como você mesma me contou.
— É verdade — declarou Ellen, com voz ainda mais fraca. — Mas ela queria que eu voltasse com ela, para esta casa, e eu não quis.
— Deus de piedade! — exclamou Jeremy. — Você é realmente uma idiota, Ellen. — Ele queria dizer alguma coisa mais cruel, mas conteve-se. Ellen estava fora de si. Jeremy estendeu os braços para a esposa, mas Ellen recuou, as lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto.
— Foi um erro, desde o princípio — gaguejou Ellen. — Sempre foi tudo errado.
— Deus de piedade! — disse Jeremy, novamente. Francis e Hortense trocaram olhares significativos, inclinando a cabeça.
— Nunca passei de uma criada! — gemeu Ellen. — Se me tivesse lembrado disso, tia May ainda estaria viva.
— Você está desnorteada — disse Jeremy. — Às vezes penso que sempre esteve, sua inocente infernal. Agora, do-mine-se. Vejo que a Srta. Cummings está à porta, com sua bagagem, Ellen, seu chapéu e seu casaco. Vamos imediatamente para um hotel.
— Não! — exclamou Ellen, confusa e angustiada.
— Sim — declarou Jeremy, segurando-a asperamente pelo braço. — Já fui paciente demais com você, Ellen, demais. Tenho um carro à espera. Assoe o nariz e enxugue as lágrimas, pelo amor de Deus.
Foi como se ela o visse claramente pela primeira vez. Atirou-se nos braços do marido, dizendo:
— Leve-me para casa, Jeremy. Leve-me para casa!
— Sim, querida. — Jeremy conduziu-a para a porta, onde a Srta. Cummings estava à espera. Por uma razão qualquer, a governanta de repente representou, para Ellen, todo o seu sofrimento, sua cólera e sua dor.
— Não quero mais saber dela! Da Srta. Cummings. Ela virou meus filhos contra mim. Sei disso, sei disso, posso sentir isso! Ela foi grosseira comigo e com a Sra. Eccles, desde ontem. É arrogante e pretensiosa. Recuso-me a conservá-la em minha casa. Jeremy, mande-a embora!
Jeremy sorriu sombriamente.
— Não precisa preocupar-se com isso, querida. Ela tem um lugar mais interessante para onde ir, não tem, Maude?
Charles Godfrey já contara a Jeremy que pretendia casar-se com Maude, em outubro.
A governanta apenas sorriu. Saíram para a tarde quente e entraram no carro. Na sala, Hortense e Francis entreolharam-se durante um longo tempo.
— Acho que Ellen finalmente criou juízo e compreendeu quem ela é realmente — disse Francis, muito alegre.
— Apenas uma criada — concordou Hortense. — Quem nasce torto, tarde ou nunca se endireita.
Capítulo 26
Ellen ficou num estado de estupefação durante muito tempo, indiferente, quase sem falar. Jeremy, então, teve que recorrer a Kitty, à Sra. Bedford e a outras mulheres, para sentir um pouco de alívio. Kitty teve uma atitude compreensiva e delicada.
— Deixe que ela se recupere aos poucos — disse. — Temos que nos lembrar de seu passado. Isso atrapalha. Os psiquiatras de Viena dizem que a infância tem uma grande influência na vida de uma pessoa. Infelizmente não creio que Ellen compreenda sua posição como sua esposa, Jerry. Mas você precisa dar-lhe tempo. É o melhor que tem a fazer.
A Sra. Bedford, que gostava muito de Jeremy, embora não o amasse, foi menos hipócrita.
— Pobre Ellen. Acusando-se, sempre, de crimes que não cometeu. Tive uma irmã assim, muito escrupulosa. Isso nada tem a ver com a infância de Ellen. Acho que ela nasceu assim. Um destes dias talvez caia em si e dê risada e tudo acabará bem. Foi o que aconteceu com minha irmã. Agora vive em Chicago, uma mulher saudável e animada que, finalmente, ama a vida.
Ellen recuperou-se suficientemente para ser madrinha de casamento de Charles e de Maude Cummings, embora certa vez tivesse dito a Jeremy:
— Não compreendo como Charles pôde fazer isso, casar-se com a Srta. Cummings. Ela é muito pouco compreensiva.
— Tem bom senso — replicou Jeremy. Mas Ellen jamais conseguira gostar de Maude e desconfiava dela.
Charles levara a esposa para uma casa não muito distante da de Jeremy. Maude sabia que Charles sentia por ela um amor muito diferente do que tivera por Ellen. Era um amor confortável, confiante, cheio de companheirismo. Ambos se divertiam juntos e se compreendiam. Para Charles, Ellen fora um sonho cor-de-rosa e romântico, com fantasias quase que de um adolescente. Os homens eram poetas, instintivamente, refletia Maude. Mas o que desejavam, afinal, era um amor quente e tranquilo, que não conflitasse com o romantismo deles e fosse sempre firme e estável. Maude achava que a poesia era uma coisa bonita, que frequentemente continha sabedoria e nuanças. Apesar disso, um bom jantar, uma conversa inteligente e uma terna compreensão eram a base da vida dos homens. A poesia era o luar, mas a gente tem que viver durante o dia. Maude-conhecia bem a natureza masculina. Ouvia as considerações de Charles (poéticas, embora um pouco banais) com um sorriso suave e amoroso, não o contradizendo, nem fazendo comentários acintosamente criteriosos. Os homens desconfiavam das mulheres sensatas demais e não gostavam disso. Assim, raramente Maude sugeria qualquer coisa que pudesse abalar os castelos no ar da imaginação do marido. Só fazia insinuações quando achava que eram para o bem de Charles e ele acabava acreditando que as ideias tinham sido dele desde o princípio.
Certa vez, ele disse a Maude:
— Estou realmente preocupado com as atividades políticas de Jerry e com suas polêmicas por todo o país. Ele arranja muitos inimigos.
— É porque diz a verdade — comentou Maude. — Sim, é isso. Mas um homem deve fazer o que acha direito. Não deve comprometer sua integridade por causa de seus interesses. Quando faz isso, torna-se um canalha, um hipócrita, um mentiroso, pois está sendo falso consigo mesmo. Às vezes pode morrer devido à sua integridade, mas é uma morte nobre... a não ser que nos lembremos do que o Rei Davi disse: “Antes ser um cão vivo do que um leão morto”.
— Acho que eu preferia ser um cão vivo a ser um leão morto — disse Charles.
Maude fitou-o com ar perspicaz e afetuoso.
— Não acredito — declarou ela.
Charles tocou a mão da esposa, agradecido. Maude pensou: “Os homens se iludem a si mesmos, o que não acontece com as mulheres, que geralmente são realistas. Mas um mundo destituído de romantismo por parte dos homens seria muito triste, realmente. Nós nos completamos, os homens e as mulheres. Se isso acabar, teremos uma vida insossa”.
Certa vez Walter Porter disse a seu sobrinho:
— Talvez eu tenha medo porque estou ficando velho. Medo por você, Jeremy.
Jeremy tornou a encher o copo do tio. Estavam sentados na biblioteca da casa de Jeremy, num dia sombrio, em princípios de outubro.
— Não diga! — exclamou Jeremy. — Você nunca teve medo, antes.
— Pois bem, como disse, estou ficando velho. Mas há qualquer coisa no ar, um cheiro de perigo. Não tenho medo por mim, mas por você. Você é como um filho para mim, e os pais têm mais medo pelos filhos do que por eles mesmos. Agora, aquele seu artigo na National Gazette...
— Você não o aprova?
— Aprovo-o totalmente. Apenas desejaria que você não o tivesse escrito.
Jeremy riu. Depois, ficou sério. Disse:
— Achei que era tempo de deixar de só fazer insinuações para o povo americano. A Gazette não é apenas a revista mais popular dos Estados Unidos, como é também corajosa e lutadora. Um ou dois redatores duvidaram do acerto da publicação; os outros, não. Pude fornecer dados específicos sobre as reuniões da Sociedade Scardo e as discussões do Comitê para Estudos Estrangeiros, os nomes dos presentes, as datas em que haviam sido feitos planos para guerras, revoluções, incêndios, conflitos raciais, bancarrotas, crises, traições, assassínios, queda de governos, arruaças, subversões de chefes de Estado, submissão de políticos, desordens e caos em todas as nações do mundo, desvalorização da moeda, submissão final do mundo ao comunismo... sob a tirania da “elite”, isto é, dos poderosos, os imensamente ricos. A Gazette concordou comigo; que estava na hora de dizer os nomes das pessoas e não somente das sociedades e dos comitês. Foi o que fiz.
Como Walter nada dissesse, Jeremy prosseguiu:
— Sociedades, organizações e comitês são vagos e difusos e, portanto, não parecem oferecer perigo imediato, como boatos e falatórios, sem nomes, fatos ou datas. As conspirações parecem excitantes. Não foi Disraeli quem disse que todos os que não acreditam na teoria conspiradora da história são tolos? Assim, forneci nomes, fatos e datas e fui capaz de repetir as discussões quase textualmente. Decorei tudo, quando eu era sócio das duas organizações. Também tomei notas imediatamente após as reuniões, para poder ter um registro acurado. Você deve ter notado que nenhuma das pessoas mencionadas contestou o que escrevi.
— É verdade. E é isso o que me preocupa. Se algum deles o tivesse acusado de fraudulento, fantasista, mentiroso, negando tudo, ou o tivesse ridicularizado, Jerry, eu não estaria alarmado.
— Talvez eles achem que, se me ignorarem, eu me retirarei, o que escrevi será logo esquecido por um público amante do jazz.
Walter sacudiu a cabeça.
— Eu ficaria menos preocupado se tantos jornais e revistas não tivessem publicado editoriais sobre o seu artigo. Você agitou a opinião pública e fez com que se exigisse que os conspiradores sejam desmascarados de uma vez por todas, antes que seja tarde demais.
— Não estou preocupado. Para dizer a verdade, compareço a muitas reuniões políticas, tanto republicanas como democratas, para elucidar meu artigo e dar informações mais incisivas. Meus oferecimentos para fazer palestras já foram aceitos, principalmente pelo Partido Republicano. Wilson não pode ser eleito presidente. Não creio que ele tenha uma ideia sobre quem o está manipulando, ou o manipulará, se ele for presidente. Foi escolhido por ser um idealista inocente, sem nenhuma noção de como um país deve ser governado... ou de quem realmente o governa. Ouvi dizer que Taft já tem mais do que uma ideia sobre os conspiradores e, portanto, é um perigo para eles. Teddy Roosevelt, também, já está pouco a pouco se apercebendo disso. Então, ambos estão programados para ser eliminados, pela eleição de Wilson.
— Jerry, acredito que talvez você corra perigo e estou com medo.
— Ora, tio Walter! Você não acha que eles quereriam confirmar minhas acusações, assassinando-me, acha? — Jerry riu de novo. — Eles são cautelosos e agirão cautelosamente, principalmente nesta conjuntura. Agem na sombra; não gostariam que os flashes fotográficos os iluminassem de repente. Você não precisa, portanto, preocupar-se. Além do mais, eles reservam os assassínios para os chefes de Estado, não para meros advogados como eu.
Walter mudou de tática.
— Tudo o que você escreveu e falou, Jerry, não impediu que Wilson fosse indicado. O que acontecerá se Roosevelt for eleito e seu Partido Progressista assumir o poder?
— Confesso que seria pior.
Walter suspirou profundamente. Os anos de ansiedade o tinham marcado. Ficou observando a luz dos postes da rua; nas esquinas, entretanto, havia arcos voltaicos, azulados, anulando as sombras.
— E meu filho é um deles — observou Walter, em voz abafada.
Após um ligeiro silêncio, Jeremy disse:
— Tenho lido as opiniões de Freud e de seus colegas alienistas, ou psiquiatras, como estão começando a chamar-se. Estou principiando a acreditar que homens como Frank estão mentalmente doentes. Lembre-se do que Thoreau disse: “Creio que o que entristece o reformador não é sua compreensão para com os homens que sofrem... e sim sua doença particular. Se isso for endireitado, ele abandonará seus companheiros sem pedir desculpas”.
— Talvez seja verdade, Jeremy. Fico imaginando qual será a “doença particular” de Francis.
— Ele teve um pai forte demais para o seu temperamento frágil. Francis detesta a autoridade e, ao mesmo tempo, deseja secretamente submeter-se a ela. Há qualquer coisa de feminino nos reformadores masculinos. Eles desejam realmente ser violentados por alguém mais poderoso, para que possam adorar o estuprador. Mas, quando são tratados como seres humanos razoáveis e responsáveis, eles se tornam arrogantes e tiranos.
— E você acha que cometi o erro de tratar meu filho como se ele fosse um homem razoável e responsável? — perguntou Walter, à janela, virando-se.
Jeremy notou que o tio estava sofrendo e arrependeu-se do que dissera.
— Pois bem, é uma hipótese interessante. Apesar de tudo, nenhum homem pode saber como são os outros homens, ou por que motivo eles agem e pensam da maneira como o fazem. É uma imprudência acreditar que isso seja possível.
O gongo do jantar soou. Walter olhou para Jeremy, notando nele a força, a determinação crescente, a maturidade, os cabelos grisalhos nas têmporas. De novo, com uma espécie de desespero, desejou que ele fosse seu filho.
Devido ao agitado estado de espírito de Ellen, por causa da morte da tia, Jeremy permitiu que seu filho Christian ficasse em casa até o mês de janeiro seguinte, em vez de mandá-lo para o internato, em Groton, em setembro. Ellen agarrava-se ao marido e aos filhos como a um refúgio desesperado para aquilo que ela considerava sua “culpa”. Jeremy compreendia que ela precisava ficar ocupada pelo menos em casa, pois desistira das aulas de música e de línguas, das visitas aos museus e da ópera. Aceitava convites para jantar e dava jantares em sua casa, mas somente por insistência do marido.
— Deus de piedade, Ellen, você está tentando nos enterrar na sepultura de sua tia? — perguntava ele.
Mas, quando a fitava, via nela um medo muito grande, embora irracional. Ellen ficava apavorada ao pensar que, se perdesse contato com as pessoas que amava, ou as esquecesse mesmo por um momento, elas lhe seriam tiradas, como acontecera com a sua tia May. Precisava observá-las incessantemente. Vira a morte pela primeira vez e ficara apavorada ante a sua irremediabilidade. Jeremy a compreendia, mas sua impaciência crescia, pois Ellen exigia que, se ele fosse atrasar-se, lhe telefonasse explicando a razão, para que ela não ficasse numa tremenda ansiedade.
As crianças sabiam disso e achavam cômico o estado de espírito da mãe. Suas cruéis ironias, suas exigências se tornaram mais visíveis. Agora Ellen não podia negar-lhes coisa alguma, acreditando, vaga mas fortemente, que se o fizesse poderia causar uma separação definitiva entre eles. Tentava explicar isso a Jeremy; embora ele tivesse pena dela, ficava zangado, ao mesmo tempo.
— Por que é que você procura dirigir a vida dos outros? Ellen, temos que viver nossa própria vida. Você nunca entendeu isso, nem mesmo em relação à sua tia. Ela tomou sua decisão; nós também tomamos a nossa. Você não pode ficar agarrada a nós para sempre, sabe?
Mas essa observação apenas tornou a pobre Ellen ainda mais frenética.
Os filhos do casal tinham seu próprio fonógrafo no quarto de brinquedos e Ellen sempre lhes comprava discos, embora Jeremy deplorasse o gosto da esposa nesse assunto. Eles gostavam ragtime e dançavam durante horas ao som dessa música, enquanto Ellen os observava com um sorriso ansioso, suspirando ante aquela infância feliz. Mas eles tinham a precaução de, quando o pai estava presente, não tocar certa canção sentimental:
“Um pássaro, somente, em gaiola dourada,
É o que ela é: bonito objeto de se ver.
Mostre-se embora assim feliz, despreocupada,
Ela não é, no fundo, o que aparenta ser.
Triste é pensar em tão desperdiçada vida,
Que a juventude enjeita os de idade avançada!
Foi, pelo ouro de um velho, a beleza vendida:
Ela é um pássaro preso em gaiola dourada!”
Enquanto esse disco gemia no fonógrafo, os filhos de Ellen observavam-na atentamente, piscando um para o outro e às vezes pondo a mão na boca para ocultar o riso cruel contra a mãe. Ellen contraía-se ao ouvir essa canção e outras do mesmo gênero, mas sorria determinadamente. Pois não eram apenas crianças, com gostos ainda não formados, indiscriminados, os gostos dos inocentes? Não lhe ocorria que seus filhos não eram e nunca tinha sido inocentes. Após uma dessas longas sessões, ela os levava para baixo, para a sala de música, e tocava árias para os filhos, cantando com sua voz arrebatadora, ou tocava uma sonata, principalmente a Sonata ao luar, além de vários noturnos. As crianças ouviam, sorrindo maliciosamente. Não achavam que a mãe tivesse uma voz bonita; diziam, uma para a outra, que ela “mugia como um bezerro”. Não gostavam de música, achando que era uma coisa aborrecida que não combinava com o gênio irrequieto deles.
Agora tinham um preceptor, um rapaz franzino, sempre resfriado, com olhos azuis aguados, de expressão patética, rosto comprido e pálido, cabelos lisos e desbotados. Christian e Gabrielle logo perceberam que Sydney Darby estava apaixonado por Ellen, embora ela não tivesse a mínima desconfiança disso. Quando Ellen aparecia na hora das lições, ficando à porta só pelo prazer de ver os filhos, o pobre Sr. Darby ficava rubro e começava a gaguejar com sua vozinha fraca, o que muito divertia as crianças. Elas faziam boquinha, com ar sentimental, e viravam os olhos com expressão de zombeteiro sofrimento. Se Ellen não percebia isso, o pobre preceptor o percebia, de modo que detestava as crianças com uma força que as teria deixado atônitas, caso desconfiassem disso; assim, elas o teriam respeitado. Se tivessem adivinhado que o rapaz teria gostado de matá-las, até mesmo elas teriam ficado intimidadas. Somente Annie percebia isso, e em várias ocasiões comentava sobre Christian e Gabrielle com o preceptor.
— São uns monstros — dizia ela. — Mas é o que todas as crianças são, realmente, Sr. Darby.
— É verdade — concordava ele, suspirando. — É muito estranho, mas gosto de ensinar, embora não tenha ilusões sobre as crianças. Ainda tenho esperança de que, de algum modo, eu possa tornar as crianças menos terríveis. Às vezes acho que isso é impossível, Annie; as crianças crescem e se tornam adultos perigosos. A gente fica imaginando o que aconteceu com o cristianismo.
— Ninguém jamais o tentou — replicou Annie, com sua habitual firmeza. — Dizem que somos um país cristão. Acho que nenhum país jamais foi cristão. Ser bom e decente é contra a natureza humana. Com poucas exceções. Como a Sra. Porter, Cuthbert e o senhor, Sr. Darby. — Annie fitou-o afetuosamente e ele retribuiu o olhar, surpreso e satisfeito, notando pela primeira vez como a moça era bonita, com seu narizinho petulante e sorriso encantador. Com o tempo, Annie se tornara gorduchinha e mais corada, mas o Sr. Darby não considerava isso um defeito. Gostava de mulheres robustas e afetuosas. De repente teve vontade de beijá-la. Annie percebeu isso no olhar tímido do rapaz e desejou fazer o mesmo, de todo o coração. Mas, para ela, nada de encontros casuais. Experimentara isso uma vez
e resolvera que seu objetivo agora era o altar. Nesse meio tempo, de modo afetuoso, embora disfarçadamente, ela encorajava o Sr. Darby.
— Só fiquei aqui por causa da Sra. Porter — disse èla ao preceptor. — As crianças não precisam mais de mim, se é que alguma vez precisaram, a não ser quando eram bebês. Mas madame precisa de mim. Acho que não compreende isso, Sr. Darby.
Ele inclinou a cabeça vigorosamente.
— Oh, claro que compreendo, Annie. Acredite-me.
Annie ficou feliz. Naquela noite, ela cantarolou uma canção melodiosa que ouvira no fonógrafo das crianças: “Eu nunca soube... o que o amor pode fazer!” Depois, entoou outra canção: “Quando os irlandeses sorriem!...” Para Annie, exuberante e apaixonada, não tinha importância o fato de o Sr. Darby ser não apenas irlandês, mas católico, também. A pragmática Annie, lembrando-se de repente de sua Bíblia, só podia repetir para si mesma, sorrindo, mas com lágrimas secretas: “E o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus ”. Comprou um terço e um folheto com instruções. Certo domingo, em princípios de outubro, quando o preceptor descia a escada da casa, ela apareceu ao lado dele. Estava com seu melhor traje, um vestido de lã azul-claro, com um grande chapéu de feltro azul-escuro, sapatos pretos, novos, e luvas pretas. Seus cabelos dourados brilhavam, o rosto estava corado, os lábios vermelhos. Ela disse a Darby, suavemente:
— Pensei em ir à igreja com o senhor hoje pela manhã, se não se importar.
Olhando para o rosto redondo e radiante, para os amorosos olhos azuis, Darby sentiu-se pelo menos trinta centímetros mais alto e muito viril e agressivo. Com ar autoritário enfiou em seu braço a mão enluvada de Annie e dirigiu-se com ela para a missa. Na igreja, ela se benzia quando o via fazer isso, ajoelhava-se e levantava-se quando Darby o fazia, e ficou muito emocionada com as velas, as estátuas dos santos e o ritual, pois tudo se transfigurava com a inefável luz do amor. Sendo esperta, Annie sabia, entretanto, que no íntimo Darby era tímido e que, se ela o perseguisse, ele acabaria fugindo, de modo que resolveu esperar.
Em novembro de 1912, Woodrow Wilson foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Não foi surpresa para Jeremy Porter, embora ele tivesse ficado amargurado. Não ficou também admirado quando, em janeiro de 1913, Wilson transformou em leis as onerosas emendas da Constituição: o imposto de renda federal, o Sistema de Reserva Federal e a eleição direta dos senadores. Havia décadas que se sabia que isso era inevitável, apesar das constantes decisões do Supremo Tribunal que declarava essas sinistras inovações inconstitucionais. Jeremy comentou:
— Pois bem: Calígula, o imperador louco, fez o seu cavalo cônsul de Roma. O mesmo acontece com o eleitor americano.
— Receio que cada vez mais seremos governados por homens e não pela lei — observou o velho Walter Porter.
— Esse é sempre o destino das repúblicas — replicou Jeremy. — Que foi que Aristóteles disse? “As repúblicas se deterioram em democracias e as democracias em despotismos.” Sim; há muito para se dizer a favor das monarquias e dos parlamentos. Duram mais e são estáveis.
Em março de 1913, uma doença estranha e virulenta conhecida como la grippe começou a invadir o mundo. Tinha características diferentes da influenza. Causava maior número de mortes e, quando não, tinha consequências mais demoradas. Logo seria conhecida como gripe espanhola, perdendo sua designação pseudofrancesa anterior.
Walter Porter morreu dela em fins de março. Jeremy era seu principal herdeiro. A seu filho, Francis, Walter deixou apenas um quarto de sua grande fortuna. Quase louco com essa “injustiça”, Francis recorreu aos tribunais e perdeu. Embora já odiasse o primo, esse ódio nada era comparado ao que então sentia. A velha inimizade se transformou em ódio.
Muito triste com a morte de Walter, Ellen não podia compreender seu marido e suas frequentes manifestações de ódio pelo primo. Certa vez, ela disse:
— Jeremy, o dinheiro não é importante, é? Por que você não deixa que fique para o Sr. Francis?
O marido fitou-a, incrédulo.
— Como é que você pode ser tão tola, Ellen? Tio Walter deixou esse dinheiro para mim. Acha que devo insultar sua memória, recusando-o? É uma questão de princípio, também, que você não compreende. Não me fale mais nisso.
Ellen ficou amedrontada com a expressão do rosto do marido, pois era a expressão de um estranho, hostil, que ela jamais vira nele. Chorou até Jeremy tomá-la nos braços e consolá-la. Ele vira medo no olhar dela; embora não adivinhasse a razão, sabia que ali havia medo.
Os pais de Jeremy ficaram radiantes com o testamento de Walter. Esquecendo-se de que ultimamente estivera a favor de Francis, Agnes disse, com ar sentencioso:
— Walter tinha o direito de deixar seu dinheiro para quem quisesse. Ele devia ter uma boa razão para fazer isso!
Capítulo 27
Quando assumiu a presidência Woodrow Wilson anunciou sonoramente, no melhor sotaque de Princeton, as “Novas Liberdades” para a América. Aprovou a Tarifa Underwood, que reduzia os impostos sobre as importações estrangeiras. Essa decisão desfavorável à indústria americana deixou dezenas de milhares de americanos sem emprego, causando uma depressão econômica e um desespero geral. Não havia mais proteção ao trabalhador americano contra a mão-de-obra estrangeira, de modo que houve fome e miséria em toda parte.
— As coisas estão acontecendo de acordo com o previsto — dizia Jeremy Porter, com amargura. — O próximo passo será a guerra.
Mas poucos o ouviam. Ele não se admirou de não ser mais convidado para falar, embora se oferecesse para fazê-lo de graça. Não se espantou, tampouco, quando Wilson acusou o Presidente Victoriano Huerta, do México, de ser “um bruto desesperado”, porque Huerta restabelecera a lei e a ordem em seu país, depois de um estado de caos e de anarquia sob o presidente “reformista”, Madero, que incitara as multidões àquilo que, eufemisticamente, era chamado de “luta de classes”.
— Como se saísse da boca de Lênin — comentara Jeremy.
— Quando é que Wilson irá tomar medidas militares contra Huerta? Qualquer dia, provavelmente.
O Departamento de Estado, sob Wilson, espalhou o boato de que navios alemães estavam despejando armas, para Huerta, em Veracruz e manifestou sua indignação. “É antiamericano! ”, gritou, embora não ficasse muito claro o que havia de “antiamericano” naquele acordo particular entre o México e a Alemanha, sendo usado dinheiro mexicano.
— Então, estamos começando a interferir nos direitos legítimos das nações estrangeiras de dirigir sua própria política para lucro ou autoproteção — comentou Jeremy. — Estamos a caminho do imperialismo americano... conforme foi planejado.
Os amigos de Jeremy ainda se mostravam incrédulos e, rindo, acusavam-no de “ver conspiração em qualquer movimento de Washington”. Ficaram, no entanto, mais apreensivos quando, no dia 21 de abril de 1914, Wilson, histericamente, deu a ordem: “Que Veracruz seja tomada de assalto”. Os vasos de guerra americanos tiveram ordem de bombardear Veracruz, e os marinheiros tomaram vários edifícios do governo. Profundamente alarmados (e com razão) por essa intrusão num governo sul-americano e em seus negócios internos, o Brasil, a Argentina e o Chile protestaram perante Washington e se ofereceram discretamente para servir de mediadores entre os Estados Unidos e o México. O oferecimento, feito com diplomacia, mas com determinação, foi aceito com relutância pelo Departamento de Estado. Jeremy ficou encantado.
— Já é tempo de os governos estrangeiros começarem a olhar nosso governo com frieza e realismo — comentou ele. — Isto é, se não quiserem ficar submersos em conspirações que os destruirão.
Mas, sob a alegria de Jeremy, havia o pessimismo realista. De novo esse pessimismo se justificou. O Presidente Huerta renunciou misteriosamente (retirando-se para Forest Hills, em Long Island, Nova York), ele, que protestara contra a intervenção americana nos negócios internos do México!
— Ele agora terá que observar os acontecimentos com desespero — comentou Jeremy, quando um revolucionário comunista chamado Venustiano Carranza se tornou presidente do México, com a aprovação de Washington. Huerta permaneceu estranhamente silencioso e sob severa vigilância em seu “exílio” nos Estados Unidos, um exílio que lhe fora imposto por Washington. — Não é um exílio — disse Jeremy a seus amigos atônitos. — É uma prisão. Ele foi forçado a essa prisão na América por nosso governo muito “preocupado”.
O inocente povo americano, lutando para sobreviver na depressão causada por Washington, estava por demais preocupado com seus problemas para notar as manobras políticas sinistras e intrincadas do governo americano. O povo jamais ouvira falar da Sociedade Scardo e nem do Comitê para Estudos Estrangeiros. Não teria acreditado na existência dessas organizações sinistras, que durante muito tempo haviam planejado a abolição de suas liberdades como americanos, e nem na existência de uma conspiração para reduzir a América a um mero membro de uma organização internacional que trabalhava com firmeza e maciamente em Haia, sob o título de “Paz Universal”. Esse era apenas um título de fachada. O nome definitivo seria dado mais tarde.
Em maio de 1914, Jeremy foi à embaixada alemã, em Washington. Ele sabia que os alemães eram muito corteses e que respeitavam rigidamente o protocolo. Ficara agradavelmente surpreendido por ter sido convidado a ir até lá, após uma simples carta secreta que escrevera à embaixada. O embaixador recebeu-o pessoalmente e levou-o para uma sala particular.
— Vossa Excelência ouviu falar de mim? — perguntou Jeremy.
O embaixador sorriu sombriamente sob o bigode e disse, em alemão:
— Herr Porter, ouvimos, realmente. E também o que disse.
Apresentou a Jeremy um de seus adidos, Herr Herman Goldenstein.
— Estou preocupado — disse Goldenstein, que era jovem e sério.
— Os judeus sempre se preocupam, e com muita razão — replicou Jeremy. — Mas todos nós deveríamos estar preocupados, também. — Virou-se para o embaixador. — Tenho certeza de que Vossa Excelência sabe da conspiração internacional contra a sua pátria.
— Sim, sei — respondeu o embaixador. — Sua Majestade, o cáiser, infelizmente se recusa a acreditar nessa infâmia. Mandamos-lhe cópias de seu discurso, Herr Porter. Ele acha tolice. Mas uma pessoa mais... digamos, mais enfronhada?... convenceu-o a aumentar nossa pequena força militar. E uma pena que o Sr. Theodore Roosevelt se tenha tornado de repente hostil à Alemanha, ele, que nos admirava.
— Não está surpreso com isso, Excelência?
O embaixador suspirou:
— Nada mais me surpreende.
Ele e Jeremy trocaram olhares significativos.
— Bismarck era verdadeiramente um comunista — observou Jeremy. — Ele empurrou para a América e para outros países a sólida classe média alemã. Isso foi uma vantagem para nós, mas um prejuízo para a Alemanha. Nenhum país pode perder muito de sua classe média, a “burguesia”, como é agora chamada na América, com desprezo.
— A tirania está sempre em guerra com a classe média — declarou o embaixador. — É história antiga, do Egito para Atenas e para Roma... até a Alemanha moderna, a França e a Espanha... e agora acontece o mesmo na sua infeliz América. Qual será o resultado? Conforme o senhor escreveu, e falou, um despotismo universal sob a elite auto-eleita. Os espantalhos, os impotentes, os histéricos, os loucos, as criaturas fracas que conhecem sua fraqueza inerente e querem, portanto, vingar-se de um mundo que reconhece sua impotência, que as rejeita e delas zomba. Os pseudo-intelectuais, que nada têm de intelectuais.
— E que estão sendo usados pela conspiração internacional, que se serve do comunismo para destruir a liberdade em todo o mundo. Cinicamente, estão usando o comunismo socialista para galgar o poder e são tão inimigos do comunismo como da liberdade individual. Que faremos, Excelência?
O embaixador abriu as mãos.
— Os governos nada podem contra aqueles que controlam o poderio financeiro de uma nação. O senhor mesmo disse isso.
— Sim — concordou Jeremy. — Temos agora uma organização bancária privada, o Sistema de Reserva Federal. O povo americano está iludido, acreditando que “federal” significa o governo. Gross Gott, Excelência, tem alguma ideia sobre essa terrível situação e sobre o que se possa fazer a respeito?
— Herr Porter, o senhor pode ajudar, persuadindo o povo americano a não se envolver em complicações estrangeiras.
— Vossa Excelência não parece otimista.
— Ser otimista não é função dos diplomatas — observou o embaixador, sorrindo pela primeira vez. — Achamos que qualquer coisa catastrófica é provável. Nunca nos decepcionamos. Ouvi falar do-livro que o senhor está escrevendo. Fale-me sobre ele.
— Escrevi um livro, América, cuidado! Terminei-o recentemente. Logo será publicado. Não sei dizer se fará algum bem. Talvez não. Sou realista, como Vossa Excelência.
O embaixador suspirou de novo.
— Num mundo onde a fantasia domina, o realismo é suspeito. A humanidade gosta de sonhar. Não encara os fatos, nem mesmo quando a destruição é iminente. Sic transit gloria mundi.
— O mundo merece ser destruído — disse Jeremy, desanimado. — Se não quiser ouvir a verdade... deve perecer.
— Herr Porter, claro que perecerá. Sou mais velho do que o senhor e cheio de maus pressentimentos. Fico, no entanto, triste por ter filhos.
— Também tenho um filho — disse Jeremy.
— Aceite minhas condolências, Herr Porter. — O embaixador acrescentou, hesitante: — Sempre há o Gross Gott.
— Não creio n’Ele — replicou Jeremy.
Antes de se despedirem, o embaixador disse, com súbita gravidade:
— Herr Porter, o senhor não reconhece a sua influência. Posso dar-lhe um conselho: não confie em ninguém. Cuidado com as armadilhas.
— Vossa Excelência se refere a assassínio? — perguntou Jeremy. — Não sou tão importante assim.
O embaixador ficou durante alguns minutos em silêncio, observando Jeremy. Depois, disse:
— O senhor falou com a embaixada francesa?
— Pedi uma entrevista. Não obtive resposta.
— Então, é de mau agouro. Já?
No dia 24 de maio de 1914, o livro de Jeremy, com todas as suas advertências, foi lançado. Os críticos americanos ficaram incrédulos, embora reconhecessem sua erudição e sua compreensão dos negócios nacionais e internacionais. Alguns perguntavam: “Pois não temos conhecimento do conselho de George Washington, de que não nos devemos envolver em complicações estrangeiras? O povo americano não deveria permitir esse envolvimento. O Sr. Porter está perseguindo fantasmas que não existem”. O livro foi grande sucesso de vendagem.
O Congressista Francis Porter acusou-o de “absurdo”. Disse: “O autor, obviamente, está louco”. As acusações de Francis foram registradas no Congressional Record.
— Fico imaginando quem escreveu isso por ele — observou Jeremy a seus amigos. — É muito vigoroso, e Francis nada tem de vigoroso. Não passa de um histérico, um incoerente como todos os histéricos radicais. Vocês podem notar que ele me ataca como pessoa, não as minhas ideias, e isso é típico, Eis aqui uma das críticas: “O ex-Congressista Jeremy Porter é conhecido como mulherengo. É também muito rico”. Que diabo de coisa tem isso a ver com o que escrevi em meu livro? Nada, é claro. Ele ama Wilson e suas “Novas Liberdades”. Isso também é típico. Aqueles que se chamam de “intelectuais” têm falos frouxos, e é esse o mal. Se os médicos se dedicassem a corrigir esse defeito, não teríamos esses “reformadores” babosos.
No dia 2 de junho, o Cadillac de Jeremy explodiu e ardeu furiosamente na Fifth Avenue. Jeremy morreu queimado. Seu último pensamento foi: “Ellen! Oh, Ellen!”
O embaixador alemão ficou triste, mas não se surpreendeu com o fato. Nem ficou surpreso, em agosto de 1914, com a agitação do Presidente Wilson em relação à Alemanha.
— Ele é um inocente — disse o embaixador a seus subordinados. — Mas não são todos os americanos inocentes? Sim, infelizmente.
O Presidente Wilson ficou consternado com o furioso desenrolar dos acontecimentos. Disse a seu amigo, o Coronel House:
— Precisamos, a todo custo, ser imparciais.
O Coronel House sorriu e fitou o presidente com uma expressão estranha. Repetindo, sem o saber, o que o embaixador alemão dissera, pensou: “Ele é um inocente”.
Capítulo 28
Na véspera do Natal de 1916, um mês depois de Wilson ter sido reeleito presidente dos Estados Unidos, graças ao slogan “Ele nos manteve fora da guerra”, Ellen Porter teve alta no Rose Hill Sanitarium, em Long Island. De maneira hesitante, foi considerada curada da terrível doença mental que a acometera em consequência do assassínio de Jeremy. Os médicos disseram ao Congressista Francis Porter:
— Ela ainda está confusa e deprimida, muito indiferente, apesar dos melhores tratamentos, mas temos esperança de que a volta para a companhia dos filhos tenha um efeito salutar. Durante os primeiros seis meses de sua... permanência... aqui, ela nunca falou nos filhos. Na realidade, raramente falava, Congressista Porter, e parecia não ter conhecimento de onde estava, nem das visitas que recebia. É realmente horrível. Todos nós rezamos para que ela fique totalmente curada e volte a ter interesse pela vida. Fizemos o possível.
— Tenho certeza de que sim — replicou Francis.
Com a ajuda de uma enfermeira, que residiria com Ellen até ela ficar totalmente “recuperada”, Francis conduziu-a para a sua limusine. Ela estava muito fraca e sem equilíbrio. Apesar de vestir um casaco de pele, tremeu de frio quando o vento do inverno a atingiu, embora seu rosto continuasse com expressão vazia e seus olhos nada parecessem ver. Apesar disso, ela disse a Francis, em voz monótona:
— Preciso pensar em meus filhos.
Era como se estivesse repetindo, maquinalmente, uma lição que não compreendesse direito, nem soubesse qual o seu sentido. Fitou Francis com olhos, sem vida, que mal tinham consciência da presença dele.
— Sim, eles precisam da mãe, Ellen — disse Francis, suavemente.
Antes de entrar na limusine, Ellen olhou à volta e por um instante pareceu assustada e confusa, como se não soubesse onde estava. Olhou para a fachada de tijolinhos vermelhos do sanatório e sua confusão aumentou. Via-se que não reconhecia o edifício. Um cacho de seus cabelos ainda brilhantes escapou do chapéu e esvoaçou sobre a face pálida e magra. Ela repetiu a frase de Francis, em voz morta:
— Sim, eles precisam da mãe.
Apoiou-se nele como uma criança que estivesse vivendo um pesadelo; seus lábios secos tinham uma expressão súplice.
— Sim — disse Francis, e Ellen inclinou a cabeça obedientemente. Estava nevando; alguns flocos de neve caíram sobre suas luvas e acompanharam-na quando ela entrou no carro; Francis e a enfermeira cobriram-na com uma manta de pele, pois ela tremia violentamente. A enfermeira, a Srta. Evans, uma mulher de meia-idade, gorducha e alegre, disse:
— Hoje à noite precisamos decorar a árvore de Natal. Que divertido, estarmos finalmente em casa!
— Sim — disse Ellen, piscando. Estava sentada entre a enfermeira e Francis e o congressista segurava a mão dela com força. Nos dedos magros de Ellen não havia calor, nem resposta.
— As crianças vão ficar contentes por ver a mãe de novo
— disse ele, com voz comovida.
Ellen inclinou a cabeça, num assentimento vazio. Seu perfil estava bem definido e parecia uma pedra branca; havia rugas profundas à volta de sua boca, embora ela só fosse completar trinta anos em janeiro. Seu rosto, estranhamente, parecia velho e murcho e ao mesmo tempo inexpressivo como o de uma criança. Ela não era mais a Ellen que ele conhecera anos antes, foi o que pensou Francis. Mas ainda a amava. Ele disse a si mesmo que, dali a alguns anos, a beleza e a vitalidade de Ellen voltariam e ela começaria a esquecer. Esperava que esse processo já tivesse começado. Ninguém falara em Jeremy, desde que ele morrera. Ellen não pudera ir ao enterro. Francis ficou imaginando se ela pensaria sempre no marido, cuja morte fora causada por uma bomba muito sofisticada, colocada no interior do automóvel. O assassino ou assassinos não tinham sido descobertos.
Ellen não falou durante o longo trajeto, embora sorrisse uma ou duas vezes quando a enfermeira tocava em seu braço e fazia uma observação sobre a paisagem. A enfermeira desconfiava que a infeliz senhora nem mesmo a ouvira; os sorrisos tinham sido maquinais e mais parecidos com caretas. Mas continuou a falar vivamente. De repente Ellen fechou os olhos e adormeceu imediatamente.
— Ela está cansada — disse a enfermeira a Francis. — Muita excitação, preparando-se para voltar para casa e para os pequeninos.
— Christian não é muito pequenino — replicou Francis, com sua voz pedante. — Está com doze anos e foi passar os feriados em casa, vindo de Groton. Gabrielle tem dez anos. Mesmo assim, não passam de crianças, e muito vivas. Sou primo delas em segundo grau. Chamam-me de “primo Francis”. Gosto muito delas, Srta. Evans. — Na voz de Francis havia uma expressão severa, como se a enfermeira tivesse duvidado das palavras dele.
A Srta. Evans fitou-o sagazmente. Não estava admirada de ele ser um deputado, pois ela trabalhara para senadores e certa vez até para um governador. “Como é empertigado!”, pensou. “Parece um esqueleto vestido de preto, com esse chapéu derby negro. A gente quase poderia contar seus ossos. Os olhos têm a cor de ostras frias e parecem brilhar por detrás dos óculos, como que censurando o mundo inteiro. Ele deve ter uns quarenta anos, seus cabelos são muito claros ou estão ficando grisalhos e ralos. Pobre Sra. Porter, não tem ninguém a quem recorrer, exceto esse primo do marido. A não ser, naturalmente, aquele simpático casal, o Sr. e a Sra. Godfrey, que a visitavam sempre. Quanto àquela Sra. Wilder, não passa de uma gata de meia-idade e não é nada amiga desta pobre senhora. Nem, tampouco, os que foram visitá-la, por curiosidade ou por uma noção de dever.”
A Srta. Evans apertou carinhosamente a outra mão de Ellen. Não houve resposta. A enfermeira suspirou. A verdade era que ela nunca falara do marido morto, mas as enfermeiras a tinham ouvido gemer e chamar por ele em seu sono drogado e visto lágrimas correndo por suas faces encovadas. Fora levada para o sanatório de ambulância, rígida como uma morta, com olhos que nada reconheciam. Só depois de seis meses é que conseguira vestir-se e, assim mesmo, com ajuda. Ainda estava emaciada e seu corpo perdera a beleza antiga.
— Espero que você se lembre das rosas vermelhas que lhe mandei todas as semanas, Ellen — disse Francis. Seu tom era de censura, como o de um professor.
Ellen acordou e disse, apenas:
— Sim.
A enfermeira pensou: “Ela não tem a mínima ideia do que está dizendo”. Mas Francis inclinou a cabeça com ar aprovador. O mantô de pele e o vestido de seda marrom que Ellen usava eram como roupas num manequim, pois não se mexiam. Ela respirava fracamente no interior do carro. Adormeceu de novo, enquanto a paisagem branca e preta ia passando por eles. Depois Francis viu, consternado, que lhe caíam lágrimas dos olhos fechados. A enfermeira enxugou-as, dizendo:
— Ela muitas vezes chora no sono. É como se sua alma se lembrasse de algo que ela não lembra quando está acordada.
— Claro que se lembra quando está acordada! — replicou Francis, em tom de censura. — Só que ela se controla.
A enfermeira encolheu os ombros.
— Sim, senhor. Ela é uma dama.
“Nada disso, sua tola tagarela e vulgar”, pensou Francis, encolerizado. Olhou friamente para a enfermeira e viu seu rosto redondo e corado, os olhos castanhos e brilhantes, os lábios um tanto grossos, e sentiu uma certa repulsa. Os seios eram volumosos sob o uniforme branco e a aversão de Francis aumentou. Os cabelos castanhos sob a touca branca estavam bem penteados, mas não tinham brilho, e ela tinha queixo duplo. Para os outros, a enfermeira tinha uma aparência confortadora, que inspirava confiança, mas para Francis era repulsiva. Ele considerava a robustez uma coisa desagradável e plebeia. “Apenas uma camponesa”, pensou. “Mas Ellen logo ficará boa e nos livraremos desta mulher.” Francis já estava pensando nele e em Ellen como “nós”.
Por morte de tia Hortense, meses antes, em consequência de um virulento ataque de “gripe espanhola”, Francis herdara uma fortuna considerável, e ele agora pensou nisso com satisfação, de lábios contraídos. Era quase tão rico quanto Ellen. Sentia pelo inventariante de Jeremy, Charles Godfrey, um grande ressentimento e algo parecido com ódio. Por justiça, ele deveria ter sido coinventariante, apesar da inimizade que houvera entre ele e Jeremy. Mas que se poderia esperar de um sujeito como Jeremy Porter, que não tivera espírito de família? O fato de ele próprio, Francis, não ter “espírito de família” não lhe ocorreu, pois sempre cumprira seu dever para com os pais de Jeremy, que agora estavam velhos e ainda chocados com a morte do filho. Tinham uma aparência murcha e pareciam quase tão vagos e desinteressados quanto Ellen. Francis esperava que não vivessem muito e pensou na fortuna que os filhos de Ellen herdariam. “Nós” a administraremos até a maioridade das crianças. Francis comprimiu de novo os lábios e inclinou ligeiramente a cabeça. Os advogados de Filadélfia não lhe dariam muito trabalho. Respeitavam-no como deputado e como advogado de Nova York. Francis os conhecia bem e fazia questão de visitá-los de vez em quando.
Pensou então nos filhos de Ellen, o que lhe acontecia frequentemente nos últimos dias. Ele era tímido com eles, mas os dois o tratavam com uma afeição efusiva, que Francis apreciava. A ideia de que, no íntimo, zombavam dele jamais lhe passara pela cabeça. Acreditava que os filhos de Jeremy não tinham tido grande amor pelo pai. Quase o haviam esquecido, com as distrações que tinham, como crianças. Nos últimos meses não haviam mencionado a mãe, nem perguntado pela saúde dela. Tinham-na visitado apenas três vezes, por exigência de Godfrey. “As crianças não deviam ver essas coisas”, dissera Francis a Charles, que era tutor deles. Charles concordara com ele silenciosamente, mas não pela razão apresentada. Não tinha ilusões a respeito de Christian e de Gabrielle. Achava-os detestáveis. Ele agora tinha uma filha, uma menina de três anos, meiga e inteligente, que quase convencera o pai de que nem todas as crianças eram totalmente más. Maude não ficara muito satisfeita quando descobrira que estava grávida. Ela era uma mãe severa, embora carinhosa, e Charles começara a ter esperanças e a esquecer seus antigos receios. Conhecia muitos filhos adultos que exploravam uma mãe ou um pai viúvos, por causa de dinheiro. Muitos eram cruéis e gananciosos e esperavam impacientemente pela morte de um pai ou de uma mãe. Anos de advocacia tinham convencido Charles de que a humanidade não era uma espécie admirável, nem mesmo em seus melhores momentos.
Havia muito tempo que os filhos de Jeremy compreendiam Francis, pois eram muito inteligentes, além de “detestáveis”. Christian, principalmente, chegara, confiante, à conclusão de que poderia “manejar” o primo Francis com facilidade. Sua irmã Gabrielle, a única pessoa que Christian amava, após a morte do pai, concordava com isso. A mãe nunca fora uma força na vida deles e as crianças não esperavam que jamais chegasse a sê-lo. Se pensavam em Ellen, era com um divertido desprezo. Não tinham ficado entusiasmados ao saber que ela iria voltar definitivamente para casa, antes do Natal.
— Ela vai estragar tudo — disse Gabrielle. — É tão tola!
— Ouvi dizer que ainda está meio amalucada — comentou Christian. — Ela não se meterá no nosso caminho. Se bem que nunca tenha feito isso.
— Acho que é como aquela sereia idiota, sobre quem costumava falar para nós — disse Gabrielle. Os dois riram. — Dançando com pés que pareciam punhais.
— E arranjando uma alma humana — comentou Christian. Os dois riram de novo, como se aquilo fosse muito engraçado.
— Garanto que o primo Francis se casará com mamãe — disse Gabrielle.
Isso aborreceu Christian. Ele já estava pensando em dinheiro em grande quantidade. Lembrou-se do pai, por um instante, e teve um aperto no coração.
Agora não havia governanta na casa, pois Christian estudava num colégio interno, em Groton, e Gabrielle frequentava uma escola elegante para meninas, em Nova York. Annie Burton se casara com o Sr. Darby um ano antes e tinham se mudado para uma cidadezinha do interior, onde Darby lecionava, feliz, numa escola particular para meninos. Annie sabia que sua presença não era mais necessária na casa de Nova York, e “aquele congressista” lhe dissera que era duvidoso que “a Sra. Porter algum dia voltasse a ficar boa da cabeça”. Annie não concordava com isso. Visitara Ellen várias vezes no sanatório, voltando para casa com lágrimas nos olhos. Mas era enfermeira. De vez em quando percebia, pelo olhar de Ellen, que ela a reconhecia, e uma vez a doente chegara a sorrir-lhe. Annie sabia, entretanto, que Ellen levaria muito tempo para voltar ao normal, mas não duvidava de que um dia ficaria curada.
O carro continuava seu trajeto monótono por entre carretas, automóveis e bondes; os inúmeros pedestres pareciam empurrados pelo vento de inverno. As vitrinas começaram a aparecer, brilhando à luz amarelada dos postes da rua. Pela primeira vez, Ellen pareceu ter uma leve consciência das coisas; olhou para a avenida conhecida e piscou. Seus lábios descorados estremeceram, mas ela nada disse.
— Estamos quase em casa — disse Francis.
— Em casa — murmurou Ellen fracamente, franzindo a testa como se tivesse ouvido uma palavra desconhecida.
— Um fogo quentinho na lareira, um bom jantar e sua própria cama — lembrou a enfermeira, em tom encorajador. — E seus filhos, Sra. Porter.
— Os filhos — disse Ellen. Sua voz, antes forte, era agora monótona e insegura.
Depois ela pareceu ficar sem ar e levantou a cabeça, como que procurando respirar melhor. A Srta. Evans apertou-lhe o braço, que tremia, e inclinou a cabeça, satisfeita. A pobre senhora estava começando a reagir, a sentir “alguma coisa”, afinal. A enfermeira ficou aborrecida com a óbvia consternação de Francis.
— A Sra. Porter está com falta de ar? — perguntou ele.
— Não, não, absolutamente. Ela está começando a voltar a si. Está começando a “sentir”.
Mas Francis abriu um pouquinho a janela. Ellen estremeceu ao sentir o vento gélido no rosto.
— Assim está melhor — disse Francis. — É muito abafado, num carro fechado, não é?
— Não aconselho isso — disse a Srta. Evans, com certa brusquidão. — Há muito tempo que ela não sai. Faça o favor de fechar a janela, senhor.
Francis ficou ofendido com aquele pedido feito por uma “inferior”.
— Seria uma pena se a Sra. Porter apanhasse uma doença de pulmão.
— A senhora quer dizer uma pneumonia — comentou
Francis, com desprezo. Fechou a janela, ainda ofendido. Julgara que o ar fresco seria “revigorante”. Ellen disse:
— Muito, muito frio. — Somente a Srta. Evans soube que ela não se referia ao desconforto físico; apertou mais ainda a mão flácida de Ellen, que se apoiou em seu ombro.
O carro entrou na rua onde ficava a casa de Ellen. As fachadas das casas estavam cobertas de neve; das chaminés saíam nuvens de fumaça negra; a luz dos postes refletia-se na neve pisada e suja. O céu escuro tinha um tom avermelhado, onde flutuava uma luz pálida. — Cá estamos — disse Francis, batendo no ombro de Ellen. Não percebeu que ela se contraíra. A porta do carro foi aberta. Francis desceu e estendeu-lhe a mão. Mas ela continuou sentada, olhando para a casa. Seu rosto estava pálido e angustiado e ela de novo ofegou.
— Vamos, vamos, Ellen — disse Francis, pedantemente. — Não podemos ser tolos, não é? — Segurou-a pelo braço e quis puxá-la pela porta aberta.
— Não, não — murmurou Ellen.
Francis inclinou a cabeça. A enfermeira disse:
— Deixe que ela espere um pouco para criar coragem e forças para sair do carro, Sr. Porter. Sei o que ela quis dizer.
— Sabe, mesmo? — perguntou Francis.
Puxou Ellen de novo; ela deu um grito horrível e resistiu. A Srta. Evans disse, o mais alto que lhe foi possível:
— Deixe-me fazer isso, por favor. A Sra. Porter é minha paciente. — Dirigiu-se a Ellen, suavemente: — A senhora precisa encarar as coisas, por mais difíceis que sejam. Sei que é muito duro, mas a senhora tem que enfrentar a situação, e é corajosa. Sei disso.
Francis estava prestes a repreendê-la e a “colocá-la no seu lugar”, mas viu, desapontado, que Ellen inclinava a cabeça de um modo comovedor e fazia um esforço para levantar-se. Francis afastou-se rigidamente e deixou que a enfermeira ajudasse Ellen a sair do carro. Uma vez na calçada, ela cambaleou, mas a Srta. Evans segurava-a com uma força que inspirava confiança. Foi a enfermeira quem a ajudou a subir a escada escorregadia, enquanto Francis, novamente zangado, as seguia. A porta abriu-se e Cuthbert apareceu, mais velho, e lágrimas surgiram em seus olhos apagados quando ele viu Ellen.
— Bem-vinda ao lar, senhora — disse. — Bem-vinda ao lar.
Ellen fitou-o e nada pôde dizer, mas ele percebeu que a patroa o reconhecera. O velho ajudou a enfermeira a levar Ellen para o vestíbulo e depois para o hall, que estava aquecido e iluminado por um lustre de luz não muito forte. Ouviam-se vozes, ao longe. Depois, quando a Srta. Evans ajudou Ellen a tirar o manto, o chapéu e as luvas, as vozes se aproximaram e algumas pessoas entraram na sala: Kitty Wilder, Maude e Charles Godfrey, Christian e Gabrielle. Ellen olhou-os e pareceu contrair-se; depois estremeceu. Olhou para o lugar onde caíra silenciosamente quando recebera a notícia da morte de Jeremy. Olhou-o, como que fascinada, de cabeça baixa, como quem olha para uma sepultura.
Kitty, murcha e enrugada em seus quarenta e tantos anos, mais magra do que nunca, pensou, com amargura: “Oh, sua idiota, que não foi capaz de amá-lo! Que é que você sabe de tristeza e de dor? Por acaso você o amou como eu o amei, sua imbecil? Não; você ficou fora de si, para não ter que encarar a realidade, para ser mimada num bonito sanatório, enquanto eu ficava aqui, sofrendo e quase morrendo. Ele me amava, a mim e não a você”.
Seus dentes brancos brilharam no rosto pálido. Ela se aproximou de Ellen e abraçou-a, murmurando:
— Querida, querida, que bom ter voltado para casa! E como está com boa aparência! — Seus braços magros, metidos em mangas de seda preta, enlaçaram Ellen.
Maude e Charles adiantaram-se. Maude segurou a mão gélida de Ellen e Charles ficou ao lado dela. Pensou: “Pobre menina. Eu gostaria que esse maldito pedante não tivesse insistido em ir buscá-la, sozinho, em seu carro”.
Depois Christian se aproximou gravemente, muito elegante com sua calça de golfe, de paletó preto e gravata. Seus cabelos vermelhos brilhavam à volta do rosto sadio. Gabrielle também se adiantou, de vestido de lã, vermelho; seus cachos escuros estavam presos por uma enorme fita vermelha. O rosto moreno e malicioso, de queixo pontudo e sobrancelhas negras, tinha um ar adequadamente sério.
— Bem-vinda ao lar, mamãe — disse Christian, Gabrielle lhe fez coro.
O comportamento dos dois era exemplar e digno, com uma justa nuança de preocupação. Ellen fitou-os durante longo tempo. Eles chegaram mais perto, esperando que a mãe os abraçasse, e Kitty e Maude ficaram de lado.
Depois os olhos de Ellen, criando vida, desesperados e atormentados, se dirigiram para a escada e ela gritou: — Jeremy, oh, Jeremy, Jeremy! — Antes que alguém pudesse detê-la, correu para a escada e começou a subir os degraus, continuando a gritar: — Jeremy, Jeremy! Onde é que você está?
Tropeçou na saia, cambaleou, mas a Srta. Evans e Maude já a tinham alcançado, ajudando-a a subir a escada, enquanto os gemidos da pobre mulher continuavam, só deixando de ser ouvidos no hall depois que uma porta se fechou atrás delas, ao longe.
Charles Godfrey e Kitty estavam em silêncio. Francis disse:
— Pois bem, eu não esperava por isso. Pensei que ela estivesse... curada. Que coisa triste!
— É verdade — concordou Charles.
— Ela não disse uma palavra para os filhos que a esperavam com impaciência — continuou Francis, em tom frio. — Isso nada tem de maternal.
Charles fitou-o com curiosidade, mas disse, apenas:
— Vai levar muito tempo. Jeremy era a vida de Ellen, sua única razão de existir.
Kitty suspirou. Olhou para as crianças, que estavam muito calmas.
— Pobrezinhos. Que decepção! — disse ela.
Gabrielle desatou a chorar e aninhou-se nos braços de
Kitty. Christian estava muito sério.
— Talvez mamãe devesse voltar para aquele lugar — disse ele a Kitty.
— Acho que nunca deveria ter saído de lá — observou Kitty, pondo a mão no ombro do menino. — Mas temos que ser corajosos, não é?
Charles olhou com expressão irônica para o grupo comovente sob o lustre. Mas Francis, evidentemente, estava emocionado.
— Muito triste — disse ele. — E muito desanimador para as crianças. Ellen devia ter-se controlado. Afinal de contas, já faz mais de dois anos.
— Ouvi dizer que a dor não tem tempo fixo — observou Charles. Dirigiu-se para a biblioteca e ficou diante da lareira.
Kitty estava consolando os filhos de Ellen.
— Agora, queridos, vocês precisam compreender. Mamãe não tem um caráter... muito forte... sabem? Não teve as vantagens e a disciplina que vocês tiveram, nem o treino para um... comportamento... correto. Vocês precisam dar-lhe um desconto.
Francis não gostava de Kitty, com seus olhos de ágata e expressão felina. Achava-a muito feia e tinha certo medo de sua língua venenosa. Mas, agora, fitou-a com aprovação.
— A Sra. Wilder tem toda a razão, Christian, Gabrielle. Sua mãe não teve a educação que vocês tiveram, nem ensinamentos sobre o autodomínio que uma pessoa deve ter. Conforme disse a Sra. Wilder, vocês precisam dar-lhe um desconto.
O médico de Ellen fora chamado e dera-lhe um sedativo forte. Percebeu imediatamente a competência da Srta. Evans e ficou aliviado.
— Vou arranjar alguém para revezar-se com a senhora — disse ele. Mas a enfermeira sacudiu a cabeça.
— Tomei conta da Sra. Porter nestes últimos meses, quase que sozinha. Ela me conhece e confia em mim. Seria difícil acostumar-se com uma estranha.
Ellen deitou-se na cama onde durante anos dormira ao lado de Jeremy. Sentia uma espécie de estupor. Maude sentou-se ao lado dela. Maude e a Srta. Evans tinham-na despido, vestindo-a depois com uma camisola de seda e rendas. Maude ficara impressionada com a fragilidade do corpo de Ellen, com sua magreza, com a pele transparente e sem vida. Teve vontade de chorar, de tanta pena. Acariciou os cabelos compridos e brilhantes espalhados sobre o travesseiro, enquanto a Srta. Evans desfazia a mala.
— Ela vai ficar boa, Sra. Godfrey — disse a enfermeira. — Desabafou, finalmente. Veja: agora não está chorando no sono. Aceitou os fatos.
— Estou contente por ela poder contar com a senhora — disse Maude.
A enfermeira ficou contente, pensando: “Que senhora bonita e tão compreensiva!”
— Vai levar algum tempo, Sra. Godfrey. Não podemos perder a coragem. Eu estava esperando justamente por isso... por seus gritos e por seu choro. Foi mais cedo do que eu esperava. — Hesitou e seus olhos encontraram os olhos pretos e bonitos de Maude. — As crianças... Não parecem muito contentes, não é, por a mãe ter voltado para casa?
Maude, por sua vez, hesitou. Estivera a ponto de fazer uma observação fria e convencional, sem se comprometer, sobre os filhos de Ellen e sobre a aparente falta de emoção por parte deles. Disse, serenamente:
— Não, não pareceram muito contentes. Eles são assim... Preferem a Sra. Wilder. A Sra. Porter tem poucos amigos. Na realidade, não tinha ninguém, a não ser o marido.
De novo os olhares das duas se encontraram, com tristeza e compreensão. A Srta. Evans disse:
— Ela tem a senhora, Sra. Godfrey.
Maude virou a cabeça.
— Receio que ela nunca tenha sabido disso. Mas precisamos dar-lhe toda a ajuda possível.
Olharam para a mulher que dormia com rosto descontraído e a Srta. Evans ficou satisfeita por ver que ele não tinha agora a expressão de angústia e de desespero de antes.
Era véspera de Natal. Depois do jantar, Maude, Charles e as crianças decoraram a árvore, que, apesar de todo o seu esplendor, pareceu triste a Maude. Fora colocada na sala de visitas, brilhando com suas velas, suas bolas coloridas e os delicados enfeites de vidro, tendo uma estrela no ponto mais alto. Apesar disso, era triste.
Maude pensou na guerra terrível que explodira na Europa, nos homens nas trincheiras, morrendo ao brilho avermelhado dos canhões. “Senhor, tende piedade”, pensou ela. “Oh, Deus, se existis, tende piedade.”
Cantos alegres vinham das igrejas, através da noite fria e escura; as portas das igrejas estavam abertas, deixando ver as velas acesas. Os fiéis já começavam a dirigir-se para os templos, para o serviço da meia-noite; as ruas estavam cheias de ruídos de buzinas e de risos.
“Senhor, tende piedade”, pensou Maude. “É só o que posso pedir-Vos, agora. Piedade. Não a merecemos, mas tende piedade.”
Um grupo parara na rua coberta de neve, cantando:
“É a época da alegria.
Tra lá, lá. .. lá, lá... ”
Capítulo 29
Num dia especialmente tormentoso, de granizo e de vento, Francis Porter foi procurar Charles Godfrey no escritório. Havia uma antipatia natural entre os dois, uma grande diferença de personalidade. Charles recebeu o visitante com fria cortesia e apertou-lhe rapidamente a mão, enquanto seus olhos cinzentos expressavam uma curiosidade a respeito do que ele só poderia chamar de “visita de inspeção”. Parecia-lhe incrível que aquele homem fosse primo de Jeremy Porter, que tivera uma tremenda vitalidade, convicções e um profundo realismo.
Era uma tarde de janeiro. A neve aderia às paredes das casas e às portas. As janelas tremiam ao assalto do vento.
— Dia horrível — comentou Charles, enquanto os dois se sentavam diante da lareira acesa. — Conhaque? Ou uísque escocês, Francis?
— Não bebo — declarou Francis, com uma formalidade ofensiva que insinuava que o outro era um bêbado.
Achando graça, Charles foi até um armário e serviu-se de um uísque com soda. Sentou-se de novo, lentamente, e ficou imaginando por que motivo Francis o teria vindo procurar. Francis estava sentado rigidamente, as mãos magras e brancas comprimidas nos braços da poltrona, tendo no rosto um ar severo e inflexível. Seus óculos brilhavam e sua boca parecia um corte pálido no rosto magro. Sua expressão, como sempre, era austera e acusadora. “Será que ele algum dia teve uma amante?”, pensou Charles. “Duvido. Nenhuma mulher gostaria de dormir com esse homem. Ele não tem sangue, não tem vida, embora seja um histérico.”
— Não quero tomar o seu tempo, Charles — disse Francis, com sua voz incolor, que, apesar disso, sempre parecia ameaçar alguém de violência. Charles inclinou a cabeça cortesmente e ficou esperando. Francis continuou: — Sei o que é ser um advogado ocupado.
Fez uma pausa, olhando à volta do escritório grande e quente. Seu rosto exprimiu desaprovação a tanto luxo: lambris, tapetes Aubusson, nogueira, mogno, quadros e cortinas ricas. Depois, disse:
— Você é tutor dos filhos do meu falecido primo. Você e seu escritório são os inventariantes e os administradores da fortuna.
— É verdade — respondeu Charles, sentindo avivar-se seu interesse. — Seu pai, Walter Porter, era também inventariante e estaria nos ajudando, se não tivesse falecido.
— Jeremy devia ter-me nomeado, também — declarou Francis, olhando para Charles, como se ele fosse culpado.
Charles nada disse. Ficou à espera.
— Não estou aqui para censurar sua administração dos bens de Jeremy — disse Francis. — Vim, entretanto, para consultá-lo. Com exceção do avô, Edgar Porter, sou o único parente masculino, vivo, das crianças. Claro que o bem delas é importante para mim. A mãe, naturalmente, não tem competência para julgar o que é melhor para os filhos, para o futuro deles e para a herança, depois que ela vier a falecer. Você, naturalmente, já pensou nisso.
— Reconheço que Ellen é uma senhora inexperiente — disse Charles. — Poucas mulheres entendem de lei e da administração de bens, o que é uma pena... para elas. Mas estamos fazendo o melhor possível por Ellen e seus filhos. Investimos muito em armamento... embora isso me pese um pouco na consciência.
A expressão rígida de Francis animou-se.
— Então vocês sabem que logo estaremos em guerra com a Alemanha?
— Espero que isso não seja verdade. Seria uma calamidade para a América e para todo o mundo. Sem a nossa interferência nesses dois últimos anos, tal como mandar armas para a Inglaterra, contra a ética internacional, violando todas as leis de neutralidade, a guerra na Europa há muito teria terminado. Não foi Wilson quem praticamente proibiu o rei da Inglaterra e o cáiser de se encontrarem, para tratar da paz? Sim, foi. E não disse, francamente, que ele é quem terminaria a guerra? Sim. Isso é estranho para um presidente americano neutro. É de se imaginar quem o teria orientado — terminou, Charles, observando Francis atentamente.
Francis olhou para o fogo da lareira e seus óculos brilharam mais ainda. Disse:
— Você se esquece do Lusitania.
— Não, não me esqueço. Quem foi que induziu aquelas centenas de turistas americanos a viajar num navio inglês cheio de contrabando, apesar das solicitações da embaixada alemã? Sim, contrabando militar para a Inglaterra. Contra todas as leis de neutralidade. É apenas uma conjetura, naturalmente, mas quem é que deseja que a América se envolva em complicações estrangeiras, apesar de nossas tradições? E em benefício de que nação? Não acho, como Jerry também não achava, que seja para o bem da Inglaterra ou da Alemanha.
Francis sorriu.
— Sinto muito, Charles, mas suas ideias são tão fantásticas quanto as do meu falecido primo. Conheço bem o presidente, pessoalmente. Jantei muitas vezes na Casa Branca. Ele é a favor da paz...
— Assim, praticamente proibiu o rei e o cáiser de se encontrarem abertamente para negociar a paz.
— Ele tem ótimos conselheiros. Certamente eles sabem o que estão fazendo.
— Oh, não duvido! — exclamou Charles.
— Eles sabem tudo a respeito das ambições do cáiser e da bestialidade dos alemães...
— E sem dúvida a respeito da bestialidade dos aliados, também, que cometeram as mesmas atrocidades, ou talvez piores. Quanto à ambição... há alguma coisa que ainda não apareceu e que significa uma terrível ambição.
De novo o rosto de Francis se animou. Ele virou-se a meio na poltrona, para ficar de frente para Charles, que o olhava com uma expressão encolerizada.
— Mistérios! — disse Francis. — Quem poderia ganhar... com tudo isso?
— Não tenho a mínima ideia — respondeu Charles, levantando-se para servir-se de outro drinque. Seu coração geralmente firme batia descompassadamente de raiva e de ódio. Enquanto se servia, continuou: — Milhões de pessoas estão fazendo o possível para conservar a América fora da guerra. Não sei se seremos bem sucedidos ou não. Receio que não tenhamos muita influência. — Charles virou-se e sentou-se novamente. — Estávamos falando da herança de Jeremy?
— Sim, estávamos. — Havia duas manchas vermelhas no rosto de Francis. — Há certas extravagâncias que acho que deveriam ser evitadas, para a proteção da herança das crianças.
— Tais como?...
— A casa de Long Island. O número de criados na casa de Nova York: um empregado, uma cozinheira, Cuthbert, três criadas e um homem para todo o serviço. É um desperdício de dinheiro. Ostentação. Ellen precisa de assistência, mas por que motivo uma enfermeira diplomada? Uma das empregadas serviria da mesma forma. Não é como se Ellen estivesse de cama. E a escola de Christian... em Groton, muito cara e sofisticada. Ele ficaria igualmente bem numa das escolas públicas de Nova York, assim como Gabrielle. Há também uma criadagem permanente na casa de Long Island. E um motorista. Não é época para uma exibição vulgar de riqueza, nem para gastos exagerados. Isso hostiliza...
— Quem?
— O povo americano. Estamos numa nova época...
— Ah!
— Não o compreendo, Charles. Você é considerado um administrador prudente.
— Deixe-me falar com franqueza, Francis. Jeremy era um homem rico. Sua herança é considerável. Sua família está vivendo do modo como ele desejaria que ela vivesse. Aqueles que trabalham nas casas de Ellen são bem pagos. O que aconteceria se ficassem sem emprego?
— Poderiam ser mais valiosos, como trabalhadores, em outros campos.
— Nas fábricas, por exemplo. E na lavoura. Talvez eles fizessem objeção a isso.
— Não, se fossem educados para acreditar que seu trabalho seria mais valioso em outros setores. Além do mais, seu trabalho atual é humilhante, degradante, sem significado social.
Charles deu uma risadinha.
— Nenhum trabalho honesto é humilhante, ou degradante.
— Claro que alguns são. A mulher que lava os pratos do jantar de um homem rico teria mais dignidade numa fábrica.
— Por que é que você não consulta os empregados de Ellen?
Francis corou novamente.
— O povo não sabe o que é bom para ele! Tem que ser guiado, ensinado, em seu próprio interesse e para servir ao país.
— Que país? — perguntou Charles. — E que sistema de governo?
Francis fechou as mãos sobre os braços da poltrona.
— Você está falando por enigmas.
— Ora, Francis, você e eu sabemos que não falamos por enigmas, de modo que não procure enganar-me. Por falar nisso, que é que você quer dizer com “significado social”?
— Trabalhar para o bem de todos, naturalmente.
— Isso é contra a natureza humana e contra a sanidade mental. Quando um homem trabalha bem, para si próprio, beneficia todo mundo. Mas forçá-lo a trabalhar para os outros é um insulto à sua integridade humana, à sua dignidade, à sua individualidade, ao seu impulso natural para a perfeição. É também servidão involuntária, e creio que há na Constituição uma proibição nesse sentido. Nós nos tornamos uma nação grande, próspera e livre, porque as multidões trabalharam para si mesmas, competindo em todos os campos. A competição é a máquina da prosperidade para todos. Naturalmente você não quer acabar com a prosperidade, quer? — perguntou Charles, sorrindo.
Como Francis não respondesse, ele continuou:
— Que é que você quer dizer quando alega que o povo não sabe o que é melhor para ele?
— A história provou isso.
— Pelo contrário, a história provou, com a América, por exemplo, que o povo sabe muito bem o que é melhor para ele e é por isso que desconfia dos políticos... e de outros. Espero em Deus que continue assim, desconfiando.
Uma súbita expressão de vingança passou pelo rosto magro de Francis. Charles perguntou:
— Você acha, por exemplo, que sabe o que é melhor para o povo americano?
— Sou um homem educado, um sociólogo e um estudioso dos métodos de governar. As massas são ignorantes, aviltadas e estúpidas.
— Vá dizer isso aos seus eleitores — aconselhou Charles, rindo.
Corando de raiva, Francis replicou:
— Meus eleitores não pertencem às massas.
— Sei disso. E aí está o perigo. Mas não estamos chegando a parte alguma, embora eu veja que nos compreendemos. Como administrador da fortuna de Jeremy, não consentirei que sejam eliminadas as coisas que você chama de “extravagantes”.
— Devo protestar. Sinto-me na obrigação de protestar. A época é para uma humildade prudente, não para exibições.
— Em resumo, uma época para uma igualdade insípida e para a simulação de uma preocupação moral. — Charles olhou para o seu relógio. — Desculpe-me, mas estou esperando um cliente que deve chegar logo. Quando é que você vai voltar para Washington?
— Brevemente. Fui convidado para ocupar uma posição importante depois da posse de Wilson, em março...
Despediram-se com um aperto de mãos, formalmente. Charles fumou seu cachimbo durante alguns momentos, de testa franzida. Depois foi até a escrivaninha. Olhou para o calendário: 22 de janeiro de 1917. Pediu uma ligação para Washington, para um certo senador. Enquanto esperava, reclinou-se na cadeira e ficou refletindo.
O senador atendeu e mostrou-se muito cauteloso. Referindo-se ao presidente, disse:
— Aquele cavalheiro falou hoje ao Senado, num estado de espírito beligerante, dirigido não exatamente ao Senado, mas a outras... a certas... nações, se é que você me entende. Sim. Arrogantemente, ele exigiu uma “paz sem vitória”. Referiu-se à força americana, se os... antagonistas... não cumprissem imediatamente suas ordens. Disse que não seria uma “paz particular”. A América deveria participar dela e ditar os termos.
— Deus do céu — exclamou Charles.
— De fato, Charles. Ainda há coisas piores. Ele falou em termos imperialistas, quase como um conquistador. Referiu-se a uma ideia sua predileta, a “Liga para Forçar a Paz”, sua própria invenção. Deu a impressão de acreditar que o império britânico e o império germânico são territórios rebeldes aos Estados Unidos, pequenos Estados feudais que não deveriam opor-se aos editais do rei. Você pode imaginar como isso será recebido pelos dois impérios. Ele insinuou que seria o superapaziguador, o que imporia os termos, sozinho. Se não fosse assim... (a ameaça estava clara, dirigida principalmente à Alemanha) se os seus termos não fossem aceitos, ele cortaria as relações diplomáticas com a Alemanha, o que alegraria a Inglaterra, é claro, e faria com que a guerra continuasse.
— Qual o programa geral? — perguntou. Charles. — Qual foi a reação do Senado?
— Aprovação total por parte daqueles que nós dois conhecemos, Charles, e cólera por parte daqueles que estão começando a ter uma vaga ideia de quem está por trás de tudo. Mas o cavalheiro, naturalmente, não desconfia deles: é apenas o seu porta-voz.
— Então, apesar dos sentimentos do povo americano, entraremos na guerra.
— Conforme você disse, Charles, o programa é esse. Por falar nisso, tenho outras notícias para você. Lênin está muito ativo na Suíça, agora, muito mesmo, consolidando suas forças marxistas. Seu próximo plano é ir para a Alemanha, quase imediatamente, e lá, como aristocrata, intelectual e linguista, ele será bem recebido por certos... “grupos”. Se eu fosse o cáiser, ordenaria seu assassínio. Mas o cáiser, também, é um inocente, assim como Francisco José. Para o cáiser, basta Lênin ter acusado a guerra de ser uma “guerra comercial”. É extraordinário como esses intelectuais podem combinar a verdade com mentiras e torná-las eficazes. Os banqueiros deles em Nova York, como você sabe, estão financiando Lênin; ele se movimenta num ambiente de gente rica.
— E os banqueiros são financiados por outros infinitamente mais poderosos.
O senador suspirou.
— Não há nada que possamos fazer, a não ser fazer oposição à nossa entrada na guerra... o que será inútil. “Há uma maré nos negócios dos homens” e das nações. Eu não gostaria de ser nem um dia mais moço, Charles.
— Nem eu — replicou Charles, sombriamente. — Pois bem, parece que teremos uma série de Gengis Khans e imperialistas do proletariado e poderosos planejadores da “elite”. Que Deus ajude o povo americano! Sim, talvez mereçamos isso devido à nossa complacência, ao nosso otimismo e à nossa crença de que este é o melhor dos mundos possíveis. Se eu tivesse alguma influência, obrigaria os otimistas a encarar a realidade em seus piores aspectos, mas isso é algo que os otimistas se recusam a fazer. Eles se encolhem.
Depois que desligou, Charles pensou, satisfeito, que não tinha filhos do sexo masculino. Refletiu sobre Francis Porter, que agora tinha grande influência no Congresso e fizera muitos discursos, inseridos no Congressional Record, referindo-se ao “imperialismo monstruoso” do império germânico e à “falta de coragem e de fortaleza” da América por “não enfrentar o dragão imediatamente”. Francis tinha muito apoiadores.
Charles pensou também em Jeremy Porter, que morrera devido ao que soubera e às suas tentativas de denunciar os inimigos da humanidade. Contraiu-se. Não tinha vontade de ter uma morte terrível e inútil como a de Jeremy. Deu sua atenção ao trabalho na escrivaninha, enquanto o dia escurecia e a tempestade se tornava mais forte.
Ellen estava encolhida diante da lareira, na biblioteca, naquele dia frio de fevereiro. Lá fora, o céu era branco e brilhante, Kitty Wilder estava a seu lado, ocupada em servir o chá com bolinhos que Cuthbert trouxera. O apetite de Kitty era enorme; ela podia devorar comida em grandes quantidades, o dia inteiro, sem nunca aumentar de peso. Sua vivacidade queimava tudo, febrilmente. Seu rosto era enrugado e ávido. Ela inclinou-se sobre a bandeja, com murmúrios voluptuosos na garganta, examinando cada porção deliciosa como uma mulher apaixonada, as mãos que pareciam garras indo de um lado para o outro, esvoaçantes. Em seus olhos cor de ágata havia uma expressão de desejo. “Hum, hum, gostoso”, murmurava ela. Lambeu um dedo, delicadamente.
— Realmente, Ellen, embora Cuthbert seja muito velho, é maravilhoso em matéria de massas. Por que é que você não experimenta um destes?... — Kitty disse isso, mas agarrou outro bolinho e enfiou-o avidamente na boca, como se Ellen tivesse pretendido tomá-lo.
— Não estou com fome, Kitty — disse Ellen, em voz incolor.
— Hum... — murmurou Kitty, agarrando outro bolinho. Seus olhos brilhavam avidamente. Ela os ergueu, extasiada. Estava sempre com fome; nada podia satisfazer sua gulodice. Seus lábios estavam manchados de creme. Ela perguntou: — Você gostaria que eu ficasse para jantar, querida?
— Sim — disse Ellen, afastando da face magra uma mecha de cabelo.
— Que é que Cuthbert e sua cozinheira estão planejando para o jantar?
— Não sei — respondeu Ellen.
Kitty fitou-a com desprezo. “Pão com queijo, uma fatia de carne de porcp e uma xícara de chá fraco”, com certeza era disso que Ellen gostava.
— Ellen, você precisa realmente comer e tentar recuperar as forças. Deve isso a seus filhos. Que iria Jeremy pensar, agora? Você se recusa a tratar-se. — Kitty fez uma pausa. — Você me entristece, Ellen. Precisa tentar viver de novo.
Ellen ficou em silêncio. Pensou no que Kitty dissera e sua antiga sensação de culpa voltou. Seus olhos se encheram de lágrimas; a dor de seu coração parecia um punho de ferro. Olhou para a grande bandeja de doces, bem desfalcada agora, e por um instante teve repulsa do apetite de Kitty. Imediatamente afastou esse pensamento e sua sensação de culpa aumentou.
— Por que é que não chama Cuthbert e não pergunta o que ele e a cozinheira prepararam? Você precisa interessar-se pelas coisas, Ellen.
Ellen puxou o cordão da campainha e logo Cuthbert apareceu.
— Cuthbert, a Sra. Wilder gostaria de saber o que vamos ter para o jantar.
Cuthbert olhou para Kitty com repulsa e para Ellen com compaixão. A pobre senhora recuperara o juízo, mas comia muito pouco e sempre parecia indiferente e exausta.
— Bisque de camarão, salada de lagosta, truta cozida, vitela com verduras, pãezinhos quentes, vinho branco, frutas e uma torta, madame. Uma torta austríaca, com geleia de damasco, creme batido e cobertura de chocolate.
Os olhos de Kitty brilharam. Ellen ouvira com apatia.
— Muito bem, Cuthbert — disse ela.
— Dentro de uma hora, madame?
Coquetemente, Kitty pôs a mão no estômago e sorriu sedutoramente para Cuthbert.
— Talvez eu morra de fome até lá! — disse, rindo. Cuthbert saiu da sala. Kitty continuou: — É esse tempo. Dá tanta fome que eu poderia comer tudo o que vejo.
“É o que estou percebendo”, pensou Ellen. Mas logo afastou o pensamento pouco caridoso. O cheiro do chá e dos bolos a enjoava. Kitty pegou mais um bolinho, depois de examiná-lo com lábios contraídos, parecendo considerar-se muito peralta. Seus cabelos pretos, sem brilho, estavam penteados em cachos enormes sobre as orelhas. Ela disse:
— Estou pensando em cortar meu cabelo bem curto, como o de Irene Castle. Você acha o cúmulo?
— Nunca pensei nisso — replicou Ellen.
Estava usando um vestido preto de lã fina, de Worth, e um colar de pérolas que Jeremy lhe dera. Não usava nenhuma outra joia, exceto a aliança. Kitty estava de veludo vermelho, com uma saia longa e justa. Usava brincos de rubi, para combinarem com o tom dos lábios pintados. Enquanto mastigava, seus dentes brancos brilhavam. Disse, de si para si: “Será que você alguma vez pensa em alguma coisa, sua idiota vulgar?”
— Aquela Maude Godfrey e o marido vêm jantar, Ellen?
— Não. A filhinha deles está com gripe espanhola. Eles têm tido dificuldade em encontrar empregados, nos dias de hoje, Kitty. Todo o mundo está nas fábricas, trabalhando para a “preparação”.
Kitty suspirou, feliz.
— Pois bem, isso é prosperidade, preparar-se para a guerra. Logo entraremos nela, você sabe.
Mostrando-se animada pela primeira vez, Ellen disse:
— Jeremy sabia que a guerra viria. Lutou ferozmente... mas não adiantou.
— Não se pode ir contra o destino, Ellen. Além do mais, precisamos derrubar o cáiser e tudo o que ele representa. E um animal. — Kitty fez uma pausa e acrescentou: — Detesto aquela Maude. Muito dissimulada. Que é que deu em Charles Godfrey, para casar-se com ela, uma simples criada?
O rosto magro de Ellen enrubesceu.
— Ela não era exatamente-uma criada, Kitty. Era uma governanta. E uma dama.
Kitty encolheu os ombros.
— Pensei que você não gostasse dela.
— Eu... Pois bem, não, não gostava. Mas não por culpa de Maude. Há nela qualquer coisa...
— Dissimulada — repetiu Kitty. — Conheço esse tipo. Os criados espiam tudo; não têm ideias próprias, de modo que se interessam pelos assuntos daqueles para quem trabalham. Isso enche suas almas vazias e satisfaz sua malícia.
Kitty olhou astutamente para Ellen. A Srta. Evans ainda morava lá, como empregada particular de Ellen. Apesar disso, os cabelos ruivos de Ellen estavam sempre em desordem, refletiu agora Kitty, e ela nunca usava pintura nos lábios e nem no rosto. “Parece um cadáver”, pensou Kitty, satisfeita. “E mostra a idade que tem. Por que é que mente a esse respeito? É quase da minha idade.” Recusava-se a acreditar que Ellen só tinha trinta anos.
O marido de Kitty, Jochan, era tido em grande consideração por Charles Godfrey e ainda fazia parte da firma de advocacia de Jeremy. Apesar de toda a sua suavidade, era um advogado esperto. Sua amante o presenteara com um filho, cinco anos antes, e ele tinha orgulho do menino. Suas finanças tinham melhorado novamente e Kitty se sentia feliz com isso. Então, ela disse a Ellen:
— Você tem sorte, Ellen, por Francis Porter se preocupar com você e ajudá-la tanto. Espero que o aprecie.
— Oh, sem dúvida — replicou Ellen. — Ele tem muita consideração conosco. As crianças gostam de Francis e ele delas. Quando está na cidade, vem visitar-nos frequentemente. É um conforto. — Ellen moveu-se, inquieta, na cadeira. — Mas ele quer que Christian e Gabrielle frequentem escolas públicas, aqui na cidade. Jeremy não teria gostado disso.
— Francis está querendo que você economize, Ellen, e isso não está errado.
— Charles diz que não preciso economizar. Ele sabe o que Jeremy gostaria que fosse feito.
Kitty e Francis estavam en rapport. Kitty cultivava-o assiduamente. Francis era um congressista poderoso. O fato de Jochan, absurdamente, antipatizar com ele não tinha importância. Era necessário cortejar os poderosos, coisa que Jochan ainda não percebera.
Meses antes, Kitty refletira seriamente sobre Francis. Ele era rico; era poderoso; seu nome era citado frequentemente nos jornais, embora o Times o tivesse achado um tanto ridículo e feito insinuações a esse respeito. Corria o boato de que logo procuraria ser indicado para o Senado. Era solteiro. Era considerado um “bom partido” pelos colunistas sociais. Embora não se sentisse atraída fisicamente por ele, Kitty tentara, sutilmente, seduzi-lo, em interesse próprio. Ele não correspondera. Kitty tivera, então, alguns pensamentos obscenos a respeito de Francis, pois ela conhecia o negrume da alma humana. Atacou-o em outra direção. Fingiu apoiar sua conduta, seu idealismo e suas ideias. Concordava plenamente com ele, quando o ouvia falar, embora risse, no íntimo. Mostrava-se entusiasmada, quando Francis se mostrava palidamente interessado. Ficava sombria, quando o mesmo acontecia com ele; acusava, quando Francis acusava. Afirmava que sempre fora feminista. Na medida do possível, Francis começou a sentir-se mais cordial em relação a ela. Uma senhora inteligente era um fenômeno raro.
Quando, num jantar que Kitty e Jochan ofereceram a Francis, ele declarara que a América deveria ir imediatamente em socorro dos Aliados, a maioria dos convidados o olhara com frieza e expressão acusadora, inclusive o amável Jochan. Mas Kitty virara a cabeça de lado e dissera, com ênfase:
— Francis conhece as ideias de Washington; ele sabe de coisas das quais nem ouvimos falar, ele é importante, e um líder. Nós conhecemos apenas o que lemos nos jornais, que são cautelosos. Mas Francis sabe o que sabe, de modo que sua opinião deve vir de uma fonte que desconhecemos.
Jochan, que nunca fora conhecido como sarcástico ou amargo, replicara:
— Talvez seja esse o mal. — Seus olhos geralmente bondosos tinham encarado Francis com dureza.
Kitty fingira ter ficado triste com as palavras do marido, embora os convidados tivessem sorrido, com ar divertido. Francis não achara graça. Mas vira que Kitty o compreendera e ficara-lhe grato. Dali em diante, sempre que se encontrava com ela, sentia que estava na presença de uma amiga compreensiva. Um pouco mais tarde, Kitty começou a pensar em casar-se com ele. O divórcio não era mais o estigma que fora em sua mocidade e ela desprezava o marido. Agora sabia de tudo a respeito da amante de Jochan e do filho de ambos. Quando o marido lhe falara em divórcio pela primeira vez, ela rira, pois tinha prazer em contrariá-lo e torná-lo infeliz e impedir que se casasse com a mulher que ele amava, uma bonita ex-corista do Floradora.
Pensava que talvez não conseguisse fazer com que Francis dormisse com ela, pois ele tinha a aparência austera de um puritano. (Desconfiava mesmo de que ele era virgem.) Mas casamento? Isso seria uma coisa sagrada para ele, ou, no mínimo, “correta”. Havia muito tempo que Kitty descobrira que os “reformadores” não eram homens de grande potência sexual, nem muito viris. Eram pedantes, na maioria efeminados, sob a aparência da fria violência que frequentemente demonstravam em suas conversas e em seus escritos. Tinham a inflexível brutalidade dos puritanos, mental e não física, embora Kitty não duvidasse de que, se a oportunidade se apresentasse, eles provariam suas ideias com morte e opressão, sem o menor escrúpulo, apenas com a convicção de que estavam agindo certo. No íntimo eram sádicos, e Kitty lera bastante para saber que os sádicos em geral eram impotentes e que, se tinham alguma sexualidade, estava aliada à crueldade e ao ódio e não era um desejo da carne.
À medida que a amizade entre ela e Francis crescia, Kitty pensava cada vez mais em casar-se com ele. Esposa de um senador! Talvez, mais tarde, até primeira dama! Começou a fazer insinuações a Francis sobre a influência política que tinha. Dizia que fora muito admirada em Washington, e muitas vezes convidada para a Casa Branca. Francis ouvia-a com crescente interesse e fazia observações pedantes e aprovadoras. Chegara mesmo a lisonjeá-la, não somente com suas atenções, mas também com comentários sobre sua astúcia e seus conhecimentos. Certa vez, chegara a dizer: “Você é uma dama encantadora”, e corara, como se tivesse feito uma observação imprópria.
Havia uma coisa que Kitty ignorava, isto é, que Francis amava Ellen Porter e queria casar-se com ela. Ouvira-o muitas vezes referir-se a Ellen com palavras de crítica e de desaprovação. Francis dissera a Kitty que Ellen precisava realmente de um tutor. Não era sociável; era ingênua; não tinha uma verdadeira educação e nem inteligência. Mas, lamentavelmente, era preciso lembrar-se de sua “infeliz procedência”. Ellen precisava de “orientação”. (“Orientação” era uma das palavras favoritas de Francis e ele a usava frequentemente quando se referia às “massas”.) Não aprovava nada do que Ellen fazia ou dizia. Agradecera a Kitty a afeição que dispensava à “pobre mulher” e manifestara o desejo de que ela nunca abandonasse Ellen. Kitty poderia ser uma boa influência, poderia suavizar-lhe as maneiras desajeitadas e dar-lhe “personalidade”, o que Ellen obviamente não tinha, apesar de todos os professores e das “vantagens” que tivera. Kitty inclinara a cabeça humildemente e murmurara: “Faço o possível, Francis, realmente, embora às vezes...” Ele chegara a tocar-lhe o braço fino por um instante, para consolá-la.
Kitty tinha suas ideias a respeito da potência de Francis na cama. Duvidava não apenas de que ele fosse potente, mas de que fosse capaz de chegar a sê-lo. Seria o mesmo que dormir com uma pedra de gelo, pensava ela, rindo intimamente. Não importava. Poderia suportar isso e, além do mais, sempre haveria outros homens. Não acreditava que Francis fosse capaz de sentir paixão, não sabendo que toda a força oculta que ele tinha estava reservada para Ellen, à espera.
Agora, enquanto jantava com Ellen, saboreando a excelente refeição, Kitty continuou sua conversa sobre Francis.
— Gostaria que você desse mais atenção ao que Francis diz, Ellen. Ele só deseja o seu bem-estar.
— Eu sei, eu sei — respondeu Ellen, com humildade. Mal tocara na comida e sua permanente aparência de exaustão se acentuara. — Ele sempre foi muito bom para mim. Foi a primeira pessoa, excetuando minha tia, que demonstrou interesse e preocupação por mim. Mas eu já lhe disse isso muitas vezes, Kitty. Não posso esquecer-me. Mas por que os filhos de Jeremy Porter deveriam ir para uma escola pública?
— É mais democrático — replicou Kitty, intimamente rindo de novo de Francis.
Ellen sorriu espontaneamente pela primeira vez.
— Jeremy não acreditava em democracia. Achava que era uma afetação por parte dos ricos e uma armadilha para os pobres, que são invejosos e têm ressentimentos. Ele costumava dizer que a democracia era como as camas de Sodoma e Gomorra.
— Está brincando comigo, Ellen? Que diabo de coisa é essa? — perguntou Kitty, aborrecida por Ellen ter falado de algo que ela não conhecia.
— Pois bem, parece que em Sodoma e Gomorra havia camas de um só comprimento e que, quando apanhavam um estranho ou um inimigo no meio deles, cortavam-lhes a cabeça, ou os pés, para que coubessem na cama.
— Que coisa pouco ciyilizada! — exclamou Kitty.
— Era o que Jeremy dizia da democracia — disse Ellen, sorrindo novamente. — Acho que, de certo modo, Jeremy era monarquista. Ele dizia que as repúblicas não duram; citava Aristóteles. As repúblicas degeneram em democracias e estas degeneram em despotismos.
— Isso é antiamericano — comentou Kitty, com azedume.
— Não. Jeremy era realista. E, para muitos, um realista perigoso. Foi por isso que o assassinaram.
Os olhos de Ellen estavam cheios de lágrimas, embora ela não as notasse. Algumas rolaram por seu rosto pálido. Ela olhou ao longe e teve uma contração na garganta.
— E, se é que posso perguntar, qual era a opinião de Jeremy sobre um Estado ideal? — perguntou Kitty, com um muxoxo.
— Achava uma coisa impossível, pois os homens não são e nunca serão ideais. O máximo que poderíamos fazer, dizia ele, seria obedecer à. Constituição e punir qualquer pessoa que a violasse.
Como Francis estava sempre acusando a Constituição de “inimiga das massas” e um estorvo à justiça perfeita, Kitty começou a refletir. Claro que Francis Porter era um tolo, pensou ela. Mas... era rico e poderoso e isso superava qualquer tolice.
— Isso era extremismo de Jeremy. Ellen, você deveria ouvir mais Francis. É um homem brilhante.
Ellen moveu-se, inquieta, na cadeira.
— Creio que sim — disse, com sua voz inexpressiva. — Mas sou mulher e não me interesso realmente por política. Isso é da alçada dos homens, não das mulheres.
Kitty fitou-a com curiosidade.
— Para que você vive, Ellen, se se interessa tão pouco pelas coisas?
— Vivo para os filhos de Jeremy — disse ela.
“Que a desprezam”, pensou Kitty. “E por que não haveriam de desprezá-la?”
— É muito louvável. Mas você deveria ter vida própria.
Ellen fitou-a com expressão de angústia nos olhos azuis.
— Minha vida acabou com Jeremy.
— Agora, isso... — começou Kitty. Mas Ellen se levantara com esforço, com expressão de sofrimento no rosto.
— Kitty, por favor, perdoe-me. Eu preciso... subir... subir. Estou-me sentindo mal. — Pôs a mão na boca e saiu correndo da sala.
“Pois bem, isso foi uma prova de má-educação, menina!”, pensou Kitty. “Mas que mais se poderia esperar de uma inferior? ”
Sozinha, dedicou-se a apreciar a deliciosa torta austríaca, continuando a pensar em Francis.
No quarto, Ellen atirou-se na cama, segurando contra o peito um casaco velho de Jeremy, num desespero mudo. A Srta. Evans levou tempç para consolá-la, para convencê-la a largar o paletó, a despir-se e a tomar um sedativo.
Capítulo 30
Em princípios de fevereiro de 1917, Charles Godfrey visitou seu amigo senador em Washington. Fora para lá a contragosto. Lembrava-se sempre do que acontecera a Jeremy Porter. Ele, Charles, não tinha vontade de se tornar mártir, nem impopular, pois possuía o realismo dos irlandeses de Boston, embora tivesse a tendência dos irlandeses para a beligerância e a indignação. Além do mais, embora tivesse casado com uma inglesa que adorava, não gostava dos saxões em geral. Mas Maude era diferente; acreditava, tanto quanto ele, que era vantagem para a América ficar fora da guerra europeia e não tinha grande amor pela política da Inglaterra. Sabiamente e sem ilusões, achava que aquela guerra apenas na aparência era uma guerra comercial. Tinha implicações mais profundas e mais terríveis. Dissera:
— Se Jeremy não tivesse sido tão imprudente, talvez tivesse vivido para ter uma influência maior; mas ele sentia apenas cólera e repulsa. Os líderes devem também ser prudentes.
Charles, que era excepcionalmente prudente, replicara:
— Na guerra não deve haver prudência, isto é, quando se pretende vencer.
— Tudo é permitido na guerra e no amor — dissera Maude. Depois, acrescentara: — Na verdadeira revolução que existe sob esta guerra, apenas a bravura, a agressão e a coragem prevalecerão. A prudência, um eufemismo para o interesse próprio, faz de todos nós uns covardes.
— São fortes demais para nós. Estivemos dormindo e continuaremos dormindo.
— Estou pensando no poema de Horácio sobre a ponte. Um grupo de romanos foi suficientemente forte para derrotar todo um exército inimigo.
Charles rira com amargura.
— Receio que não tenhamos mais “antigos romanos” na América. Se existirem, brigam entre eles mesmos. Mas não há rixas no inferno. E é essa a sua força.
— Parece-me, Charles, que depois da Revolução Francesa, o inferno teve as suas rixas. Estavam sempre guilhotinando uns aos outros na luta pelo poder. Quando há desavença no inferno, a humanidade pode levar vantagem.
— Se sobrar alguma humanidade para se aproveitar. Geralmente vem a Idade Média do caos e a anarquia... e tudo o que há de horrível começa de novo.
— Pois bem, não há nada que se possa fazer para mudar a natureza humana. É imutável, apesar dos idealistas e de Rousseau. Para o bem ou para o mal, somos o que somos.
Charles refletiu por um momento. Quando falou, Maude não achou a observação dele irrelevante:
— Na antiga mitologia romana... ou na grega?... a Justiça foi a última deusa a deixar o mundo e deixou-o à sua própria destruição. Nunca voltou.
Charles foi para Washington falar com o senador. Era um dia sombrio, de granizo e de vento, e ele lembrou-se de um velho ditado irlandês que dizia que quando a natureza fica convulsionada, o homem a acompanha. Nunca vira semelhante tempestade em Washington. Era também uma cidade onde a gripe espanhola parecia mais virulenta do que em qualquer outra parte. Ele viu ambulâncias e carros fúnebres enchendo as ruas. Através da neve de um branco acinzentado, os prédios monumentais pareciam apenas trêmulas fachadas, com nada atrás delas. Sombriamente, ficou imaginando se a ilusão não seria verdadeira. A Union Square, na névoa fria, estava cheia de vultozinhos negros que caminhavam apressadamente, dobrados contra a força da tempestade. Havia agora uma sinistra atividade na cidade, que parecia subterrânea e estranhamente febril. “Tudo é imaginação minha”, pensou Charles, mas havia ali uma aura permanente e perigosa. Sua alma irlandesa percebia-o, pois não eram os irlandeses perceptivos? Podiam sentir a neve muito antes de ela aparecer e pressentir um desastre iminente numa atmosfera de tranquilidade.
Devido à tempestade, Charles teve dificuldade em encontrar um táxi. Os trens vomitavam torrentes de homens de olhar ávido, todos com pastas, com a cabeça para a frente, tendo a expressão perscrutadora de pessoas insuportavelmente excitadas. Muitos fizeram com que Charles se lembrasse, inquietamente, de Francis Porter; tinham no rosto uma expressão fanática que podia ser distinguida mesmo no meio da neve que caía. Ele não mais se iludiu, pensando que se tratasse de “imaginação”. Inúmeras vozes, parcialmente abafadas pelo vento, chegavam até ele. Embora fossem apenas três horas da tarde, as ruas e o largo estavam escuros e as luzes já começavam a acender-se e a iluminar fracamente os transeuntes apressados. Finalmente conseguiu um táxi. Com mãos entorpecidas, prendeu alguns botões soltos das cortinas do carro. Foi até o escritório do senador, no edifício do Senado, após várias derrapadas do carro na neve. Sempre repleta de carros, Washington parecia agora ainda mais cheia.
Os corredores do edifício do Senado estavam repletos de políticos e, obviamente, de financistas e homens de negócio. Falavam animadamente, movendo cigarros e charutos e disputando os últimos jornais, onde se viam grandes cabeçalhos. Abraçavam-se, conversando em voz alta ou em tom furtivo, inclinavam a cabeça e iam procurar outros grupos. Se alguns estavam perplexos, desesperados ou apreensivos, nada davam a perceber. Parecia uma festa ruidosa, pensou Charles com amargura. Teve que abrir caminho à força por entre a multidão. Muitos o olhavam, mas depois, não o reconhecendo, desviavam o olhar, esperando encontrar amigos ou conhecidos. Uma nuvem azulada de neblina pairava por toda parte.
O senador amigo de Charles parecia estranhamente isolado em seus escritórios silenciosos. Seus funcionários estavam quietos, com expressão melancólica, falando em voz abafada, como se alguma coisa horrível tivesse acontecido. Ali não havia militares, que podiam ser vistos no resto do prédio.
— Estou sendo boicotado — disse o senador, apertando a mão de Charles, com um sorriso nada divertido. Um funcionário trouxe uísque com soda e deixou os dois sozinhos. O senador perguntou: — Você ouviu as últimas notícias sobre o nosso bravo presidente? Não somente quer ditar os termos da paz, como exigirá um superestado, uma união mundial de “todas as nações”, provavelmente com ele ou o governo americano na direção, com poderes absolutos. Às vezes acho que perdeu o juízo.
— Não. Ele é apenas um radical e, pelo que acabo de ouvir agora, aqui neste prédio, este maldito lugar está repleto de radicais.
— Todos ricos, também — disse o senador, com voz seca e dura. — Pois bem, sabemos o que sabemos. — Ofereceu um charuto a Charles e acendeu-o com ar pensativo e expressão tensa, os cabelos brancos e sedosos em ligeiro desalinho, o olhar cansado. — Charles, nem todos são criminosos aqui neste prédio. Muitos sabem o que sabemos e estão resistindo. Mas agora começou a corrupção da sólida classe média, composta de homens que sempre foram idealistas, um tanto simples, que acreditam na bondade nata da humanidade. Estão sendo incitados pela maior máquina de propaganda que jamais vi contra a Alemanha. Milhões exigem o “fim dos bárbaros”. São assim simples, apesar de tudo o que ouviram a respeito desta guerra. Mas a classe trabalhadora não está iludida, graças a Deus. Mesmo assim, não há esperança... você e eu sabemos disso.
— Pensei que você pudesse dizer-me alguma coisa que eu pudesse fazer.
O senador sacudiu a cabeça; depois tornou a sorrir.
— Quê? Você, o irlandês prudente que não quer ser mártir? Que foi que o fez mudar de ideia?
— O fato de ter pensado, um pouco, em Jeremy Porter. Não desejo empenhar “minha vida, minha fortuna e minha honra” numa tentativa inútil de salvar minha pátria. Mas quero fazer alguma coisa.
— Alguma ideia sobre o que seria “alguma coisa”?
— Ouvi falar de várias organizações que estão trabalhando contra a participação da América nesta guerra. Qual delas, a maior, você me recomendaria?
O senador refletiu.
— Há a nossa Igreja. A Igreja, que é a mais sábia entre todas, compreende o que há por detrás desta guerra e está, o mais diplomaticamente possível, fazendo oposição a ela.
— Diplomaticamente demais, senador. Mas a verdade é que a Igreja tem que ser cautelosa. A América não é mais um país de missões, mas a Igreja ainda é odiada por muitos, aqui. Não queremos uma nova onda de violências contra ela, na América.
— Prudência, prudência — murmurou o senador, com ironia. — Às vezes, em nome de Deus e da humanidade, é preciso que se ponha um fim à prudência.
— “Aquele que luta e foge viverá para lutar outra vez”
— citou Charles.
— Às vezes foge para longe demais e, quando volta para lutar de novo, a luta pela sobrevivência já foi perdida. Lembra-se de ter lido, em Shakespeare, sobre o general que fugiu e depois voltou para felicitar o rei por sua vitória? “Enforque-se, valente Grillon”, disse o rei. “Lutamos... e você não estava aqui!” — O senador ergueu a voz, agora em tom apaixonado.
— Acho que deveríamos recomendar isso aos prudentes... quando voltarem, sorrindo suavemente. Mas, então, será tarde demais, até mesmo para enforcamentos.
Olhou para a escrivaninha e prosseguiu:
— Vou contar-lhe os últimos acontecimentos daqui, mas confidencialmente. — Deu uma risada brusca. — Aqui estou eu, sendo “prudente”! Conforme você sabe, a Alemanha, ultimamente, tem usado irrestritamente a guerra submarina contra nossos supostos “navios mercantes”, que estão levando contrabando para a Inglaterra, armas, etc., embora ainda sejamos considerados um país neutro. Nosso governo é tão “neutro” quanto Satanás! O cáiser disse que, se Wilson quiser guerra (como de fato quer), que a faça! Estaremos em guerra, e logo, Charles. Dentro de poucos dias, Wilson romperá as relações diplomáticas com a Alemanha e armará nossos chamados “navios mercantes pacíficos”, todos levando armamento para a Inglaterra. Muitas vezes fico imaginando se o rei da Inglaterra tem uma ideia do que está por detrás de tudo isso. Duvido. Os conspiradores de seu próprio governo não o mantêm informado, garanto. Apesar disso, ele tentou a paz com a Alemanha e teria sido bem sucedido se Wilson não tivesse interferido arrogantemente. Mas essa é uma outra história.
— Tenho notado que, quando um homem importante insinua que existe uma conspiração internacional, os políticos zombam dele e sugerem... Qual é o termo que os psiquiatras estão usando agora?... Sim, paranoia. O povo americano não quer acreditar em conspirações; quer apenas ser “feliz” e que as coisas permaneçam simples e compreensíveis. Querem seus divertimentos baratos, uma despensa cheia e um carro, se puderem tê-lo, uma casinha confortável, uma esposa e filhos satisfeitos, sua cerveja e seus jogos de cartas, seu esporte, uma prostituta de vez em quando e algo que eles chamam de “divertimento”.
— Não foi Nero quem se “divertiu” quando Roma se incendiou — disse o senador. — Foi o povo, até a hora em que suas casas se queimaram.
— O povo comum ainda está mais excitado com os romances de Mary Pickford do que com os incendiários que põem fogo nas casas — observou Charles.
O senador riu bruscamente.
— “Pão e circo.” É a velha história. Foi sempre assim. Conserve o pensamento do povo na barriga e nos órgãos genitais, e, com o tempo, será possível escravizá-lo. Nunca deixe que o povo pense. Nunca deixe que conheça a verdade. Os políticos, e outros, sabem disso. Além do mais, não creio que o povo queira pensar ou ouvir a verdade. Lembra-se de Cassandra? Ela tentou levantar seu povo em Tróia e creio que foi martirizada. Pois bem, digo novamente que não há nada que possamos fazer, Charles.
— Cristo também teve uma morte desagradável. Mesmo assim, Ele despertou o mundo...
O senador sacudiu o dedo para Charles, com expressão grave na fisionomia.
— Deixe-me fazer uma profecia, Charles. A próxima guerra será contra o Judeu-Cristianismo, mas não será assim considerada. A religião, como você sabe, está entre os homens e seus opressores. A religião, portanto, será um dia atacada, ridicularizada e tornada impotente. Talvez não em minha vida, mas certamente na sua, Charles.
— Sei disso, senador. Marx chamava a religião de “ópio do povo”.
O senador suspirou.
— Pois bem, acho que tudo está praticamente terminado, a não ser que possamos fazer com que as pessoas compreendam quem são seus inimigos. Os conspiradores. Lincoln sabia disso. Tenho toda uma citação dele, aqui. Deixe-me lê-la para você. Os conspiradores estavam começando a se mostrar muito ativos, mesmo no tempo dele.
O senador leu:
— “Quando vemos uma porção de tábuas, muitas das quais sabemos que foram conseguidas em tempos e lugares difíceis e por vários trabalhadores — quando vemos essas tábuas sendo juntadas, formando uma casa ou uma fábrica, encaixando-se perfeitamente, os comprimentos e as proporções das diferentes peças adaptando-se a seus respectivos lugares, nenhuma a mais ou a menos — sem omitir os andaimes — ou quando, faltando uma única peça, podemos ver no conjunto essa falha, achamos impossível não acreditar que os conspiradores se entenderam uns com os outros desde o princípio e que todos trabalharam num plano comum idealizado antes que o primeiro golpe tivesse sido dado”. Pois bem, Charles, o povo jamais “acreditará”.
Charles olhou sombriamente para as janelas do escritório do senador, cobertas de neve.
— Mesmo assim, temos a Constituição...
A risada do senador foi ao mesmo tempo irônica e desesperada.
— O próximo ataque dos conspiradores será contra a Constituição. Jefferson? Sim. Ele disse: “Em questões de poder, nada mais pode ser dito sobre a confiança no homem, mas vamos evitar que ele erre, prendendo-o com as correntes da Constituição”. O mal é que a Constituição se tornará logo (talvez mesmo enquanto eu estiver vivo) o alvo dos conspiradores. Será interpretada por homens maus, na Corte Suprema dos Estados Unidos, em favor dos conspiradores e da corrupção do povo americano. E que fará o povo americano? Gemerá um pouco, depois voltará aos seus divertimentos baratos e à sua cerveja. Talvez, com o tempo, a escravidão seja o que ele mereça. Por que haveremos de nos matar tentando informá-lo? O povo não quer ser perturbado em seu conforto físico.
— É nisso que pessoas como Francis Porter acreditam, também, senador.
— É uma coisa que nós, patriotas, e os conspiradores temos em comum, Charles. Compreendemos a natureza humana. Queremos salvá-la de si mesma. Os conspiradores usam-na em interesse próprio. — O senador olhou de novo para a escrivaninha. — Não sei se adiantará contar-lhe mais alguma coisa, Charles. A Rússia está agora infiltrada por agentes americanos da conspiração, ricos e ativos, para derrubar o czar e levar o comunismo à Rússia. Isso acontecerá num futuro próximo. Os comunistas russos são totalmente financiados pelos banqueiros e financistas americanos. Você não se surpreende? Claro que não. Sabemos disso há muito tempo. A Rússia logo fará uma paz em separado com a Alemanha e então haverá um pandemônio.
— Acho que irei para um convento — disse Charles.
— Lá, tampouco, estará seguro. Não. Ensine a seus filhos o que é ser americano. Talvez eles aprendam. Talvez eles também venham a ser corrompidos. Só o que podemos fazer agora é lutar contra o mal, o mais possível, e rezar. — Ele gemeu e continuou: — Sabe como Wilson se refere a homens como você e eu? Voluntariosos. Em resumo, se nos opusermos à conspiração e amarmos nosso país, preservaremos nossa independência e nossas liberdades.
— E ele é contra tudo isso. Quer que a América faça parte de um superestado, como você mesmo disse, senador. Homens como ele odeiam a independência de pensamento, a bravura, a defesa do país. Sim, acho que ele está louco. Deseja o fim do nacionalismo, do orgulho e da hegemonia.
— Não creio que ele saiba realmente o que quer. Há aquele perigoso Coronel House, seu amigo e conselheiro, que faz parte da conspiração. Ser inocente é destruir-se a si mesmo. O homem precisa estar sempre em guarda contra os outros homens e jamais acreditar em seu declarado “amor e confiança”. É essa a senha dos conspiradores, que não amam os outros e nem com eles se preocupam, a não ser por suas tramas contra a humanidade.
— Somos uma espécie muito má e perigosa, não somos?
— Cristo e sua Igreja nunca negaram isso.
Charles jantou com o senador naquela noite, mas ambos se sentiam infelizes, devido ao que sabiam. O senador ergueu o copo e disse, sombriamente:
— “Coma, beba e fique alegre... porque amanhã morreremos”.
A impotência que Charles sentia acompanhou-o até o fim da vida. O problema continuou a existir para o povo americano e para os povos do mundo inteiro. Não assumiam sua responsabilidade como homens. Desejavam apenas conforto e não ser perturbados. O fim era inevitável: escravidão. Mas quantos desejariam a liberdade com suas árduas exigências? A escravidão era a morte em vida; era também a paz, como um animal tem paz, com sua ração diária de comida, servidão e dependência aos senhores. Conforme disse Aristóteles: “Nem tudo o que anda com a pele de homem é humano”. Um ser humano, no verdadeiro sentido da palavra, era muito raro nesse mundo e era também perseguido por multidões que “andam com a pele de homens”, mas não são homens.
Ensinavam-lhes a “amar e confiar”. Mas o próprio Cristo aconselhara a humanidade a vender sua capa e comprar uma espada. Os antigos judeus tinham compreendido isso séculos antes de Cristo. Eles se protegiam, protegiam seu país e suas famílias... com a espada, contra os opressores. Sabiam que os governos não eram dignos de confiança, conforme dissera o profeta Samuel.
“Poderíamos aprender com eles”, pensava Charles. Mas ninguém ouvia. Raramente se ouviam algumas verdades, mas a verdade não era aceita. O povo dava ouvidos à inteliguêntsia estúpida, os pseudo-intelectuais, cheios de cólera e de fanatismo, babando de raiva.
Charles lembrava-se de seus dias de escola, quando os^ cadernos escolares eram encabeçados por aforismos e ditados (quase sempre admoestadores) polidos pelo tempo e brilhando com a verdade. Mas Rudyard Kipling lembrara-se dos “cabeçalhos dos cadernos escolares” e apenas dois anos antes publicara seu poema sobre eles. Charles se lembrava da última estrofe, sinistra:
“Tão certo como a água há de molhar-te Tão certo como o fogo há de queimar-te,
Os deuses dos cadernos escolares Voltarão em terríveis avatares”.
Eles estavam voltando, um a um, e os céus se obscureciam com sua aproximação.
Muitos senadores e deputados ficaram consternados quando o Presidente Wilson pediu autorização para armar os navios mercantes americanos que estavam levando munições e outros contrabandos para os “Aliados”. Vários protestaram, alegando que o povo americano não era a favor da guerra. Houve debates encolerizados. Mas, também, inevitavelmente, o Congresso, na Câmara Baixa, aprovou uma proposta, por quatrocentos e três a treze, para que os navios mercantes fossem armados. Os senadores, no entanto, lutaram, conduzidos por onze homens indomáveis que tinham à testa o Senador la Follette. Antes do fim da sessão, houve obstrução, com a finalidade de adiar qualquer decisão sobre o assunto em discussão.
Isso encolerizou a maioria dos senadores, que desejavam a guerra. (Afinal de contas, diziam alguns a outros, havia uma crescente depressão no país; a guerra traria prosperidade.) Assim sendo, com a ameaça de adiamento, que seria um adiamento longo, ou talvez permanente, para se obter a desejada autorização para que os navios mercantes fossem armados, oitenta e cinco dos noventa e seis membros do Senado, fingindo cólera e interesse público, assinaram um protesto contra os onze senadores que queriam impedir a guerra. Wilson juntou-se ao protesto e o mesmo fez Roosevelt — alacremente.
Mas o Senado foi obrigado a um adiamento, no dia 4 de março de 1917, pois entraria em recesso. A licença não fora dada. Wilson ficou furioso e gritou: “Diante de uma crise sem paralelo na história do país, o Congresso foi incapaz de salvaguardá-lo ou de proteger os direitos elementares dos cidadãos! Mais de quinhentos, entre os quinhentos e trinta e um membros das duas casas, estão prontos e ansiosos para agir. Mas o Senado foi incapaz de agir, porque um pequeno grupo de homens voluntariosos, representando apenas a própria opinião, determinou que não houvesse ação. Eles tornaram o grande governo dos Estados Unidos incapaz de agir e alvo de desprezo”.
Wilson perguntou ao procurador-geral se ele, como presidente, tinha o direito de determinar o armamento dos navios mercantes sem autorização do Congresso. Sorrindo, o procurador-geral garantiu ao presidente que ele tinha, realmente, esse poder. No dia 9 de março isso foi feito, para grande confusão e medo da maioria do povo americano. Os submarinos alemães logo atacaram.
Como um homem rejuvenescido e cheio de ódio pela Alemanha, Wilson convocou uma sessão extraordinária do Congresso, que se realizou no dia 17 de abril. Mas, antes dessa sessão, três navios mercantes americanos, cheios de contrabando para os “Aliados”, foram postos a pique por submarinos alemães. Com uma alegre dramaticidade, sentindo-se justificado e aconselhado pelo Coronel House, Wilson convocou uma sessão extraordinária do Congresso para que este recebesse “uma comunicação a respeito de assuntos graves”.
Não ficou satisfeito por ver Washington invadida por exércitos pacifistas de todo o país. Eles cercaram o Capitólio, reclamando a paz. “Isso é ultrajante, subversivo”, disse o Coronel House. Uma escolta de cavalaria acompanhava o carro do presidente para protegê-lo daquelas multidões de homens e de mulheres ansiosos e amedrontados que, segundo o Coronel House, poderiam “aborrecer o nosso presidente”.
A Corte Suprema, reunida, com o Juiz White ao centro, ocupou solenemente as cadeiras diante da tribuna. Atrás estavam sentados os membros do gabinete. Atrás do gabinete, sentaram-se os membros do corpo diplomático, entre eles M. Jusserand, da França, e Spring-Rice, da Grã-Bretanha. Também eles tinham um ar solene, mas seus olhos brilhavam de alegria.
Wilson estava de pé, diante do grupo de homens importantes e disse:
— A atual guerra submarina alemã é uma guerra contra a humanidade! É uma guerra contra todas as nações, um desafio à humanidade!... Há uma escolha que não podemos fazer, que não temos o direito de fazer... Não escolheremos o caminho da submissão.
O Juiz White se pôs imediatamente de pé, sorrindo e chorando, e todo o Senado se levantou, aplaudindo calorosamente. Uma leve chuva de primavera caía suavemente lá fora, remota e impessoal, sem se preocupar com a loucura humana. Dentro de poucos dias, o país, então turbulento, viu-se envolvido pelo recrutamento. A alegria diminuiu de repente quando compreenderam que a guerra não seria feita apenas com as frases grandiloquentes e as apaixonadas acusações de Wilson, e sim com armas, e que estas seriam carregadas por jovens americanos, e que esses jovens poderiam morrer. Mas, muito antes do recrutamento, a máquina para que ele operasse fora montada, em segredo, antes de o povo imaginar o que estava sendo feito, quase que sem o conhecimento dos representantes do Congresso. Era um segredo quase que só conhecido do presidente, do ministro da Guerra, Baker, e do juiz procurador-geral, Enoch Crowder. Milhões de pessoas ficaram imaginando, confusamente, como é que um sistema de alistamento podia surgir quase que da noite para o dia, sem nenhuma publicidade nos jornais e sem boatos. Essas pessoas acreditaram até o fim que, se houvesse guerra, seria feita por um exército voluntário.
Na Câmara, houve pronunciamentos encolerizados contra o recrutamento. Muitos declararam que não votariam a favor do Ato de Recrutamento. “Autocracia!”, gritaram alguns deputados. Outros acusaram o recrutamento de “prussianização, destruição da democracia, servidão involuntária, escravidão”. Alguns disseram que haveria levantes em todo o país, e muitos dos que declararam isso tinham clamado pela guerra. Os congressistas se viram assoberbados por telegramas e cartas de eleitores contra o recrutamento, mas não sabiam o que responder. No fim, podiam apenas usar as frases tranquilizadoras do presidente:
— No momento presente, os homens necessários serão conseguidos por um alistamento voluntário, até que seja necessário recorrermos a um recrutamento seletivo, o que provavelmente não ocorrerá. — Depois, o presidente murmurara: — Digamos que seja um dever pessoal servir à pátria, o que nenhum americano se recusará a fazer.
Mas a ideia do recrutamento se tornou cada vez mais impopular. Uma coisa era “acusar os bárbaros e suas atrocidades” e outra completamente diferente pegar em armas contra eles, apesar de a América ter declarado guerra à Alemanha. Fanatismo, excitação e grandes cabeçalhos nos jornais, edições “extras”, protestos públicos, entusiasmo, acusações, acenar de bandeiras, bandas de música, a língua alemã banida das escolas públicas, o chucrute passando a ser chamado “repolho da liberdade”, acusações aos descendentes dos alemães de serem “bárbaros” e “subversivos”, tudo isso era uma coisa. Mas ver um filho sendo recrutado e mandado para a morte nas trincheiras da Europa era coisa completamente diferente. “Jardins da vitória” em quintaizinhos modestos, sorrisos para os velhinhos, um alegre sacudir de ancinhos e de enxadas e mais tarde uma cerveja no terraço eram coisas esplêndidas e revigorantes. Cantos patrióticos nas tardes quentes do princípio do verão eram excitantes e alegravam o povo. Mas ver um filho, ou um irmão, ou um marido serem levados à força para a guerra (provavelmente para morrer) era uma ultrajante violação da tradicional independência e do direito de escolha americanos.
O presidente confabulou com o Coronel House, um homem calmo e ambíguo. Fez uma declaração pública:
“Estou profundamente desejoso de que haja um processo e uma seleção para o recrutamento, conduzidos em circunstâncias que criem um forte sentimento patriótico e diminuam, o mais possível, o preconceito que resta até certo ponto na mente do povo contra ele. Tendo isso em vista, estou usando um grande número de postos em todo o país para fazer com que o dia do alistamento seja uma ocasião festiva e patriótica. Vários governadores e alguns prefeitos estão participando alegremente desse plano e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos está tratando disso com organizações a ela filiadas”.
Pela primeira vez em sua história, o povo americano se viu submetido a um tratamento até então exclusivamente estrangeiro: propaganda feita pelo governo. Mas milhões de esposas e mães protestaram colericamente e em público. O Ato contra a Subversão foi assinado imediatamente. Aqueles que se opunham ao recrutamento e ao envolvimento em assuntos estrangeiros foram chamados de “inimigos da América, traidores, descontentes, covardes e simpatizantes secretos da Alemanha”. A indústria cinematográfica começou a produzir, quase que da noite para o dia, filmes de esposas e de mocinhas americanas sendo violentadas por monstruosos soldados alemães, na paz do lar, em cidades da América, enquanto os homens da família jaziam ensanguentados nas ruas. Muitos jornais ridicularizaram isso, encolerizados, mas, estranhamente, logo silenciaram. Um jornal de Chicago disse, num editorial: “À época da liberdade de imprensa acabou. A imprensa é agora escrava do governo, usada a seu serviço. Sabemos quem está por detrás dessa atrocidade, dessa violação da liberdade americana, mas não mais ousamos mencionar nomes”. O jornal logo foi à bancarrota.
Falando do recrutamento, o presidente proclamou:
“Ficará em nossos corações como um grande dia de dedicação e de obrigação patrióticas, quando cada um terá o dever de verificar que o nome de todos os homens de determinadas idades seja inscrito nessa lista de honra... ”
Esta proclamação foi assinada e selada pelo presidente no dia 18 de maio de 1917. Como a “honra” sempre fora o orgulho dos americanos, muito poucos não ficaram deslumbrados com palavras ditas com tal fervor. Esses poucos foram ameaçados e alguns foram presos.
No dia 5 de junho de 1917, chamado pelo presidente de dia de “alegre peregrinação”, todos os homens americanos entre vinte e um e trinta anos foram concitados a se alistar. O espírito americano estava agora entorpecido pela propaganda e por incessantes exortações de Washington. Pela primeira vez na história, o povo americano ficou apavorado com seu governo e com os meios violentos contra seus opositores. A europeização da América e a opressão e o controle da opinião pública pela Europa tinham começado ruidosamente por políticos subornados e por seus senhores secretos, correndo muito dinheiro e havendo muita coação. Os “bônus da liberdade”, lançados pelo governo, foram comprados em grande quantidade. As pessoas que não os compravam eram acusadas de “dificultar o esforço de guerra”. Os homens de negócios que não concordavam com eles eram acusados de fugir ao dever. Uma Comissão da Indústria de Guerra surgiu de repente para forçar os homens de negócios a observar certos regulamentos restritivos. Da noite para o dia, a comida se tornou “escassa”. Aqueles que se opunham a eles, como certos homens de negócios, eram condenados pelos jornais e punidos pelo governo.
Não se notava, a princípio, que aqueles que compreendiam o que estava acontecendo eram furiosamente atacados pela imprensa e, muitas vezes, até fisicamente pelos populistas-socialistas que tinham certa ligação com o governo e que, na vida privada, eram influentes, principalmente em Nova York e em Washington. Quando isso foi finalmente descoberto, era tarde demais.
Dezenas de milhares de mulheres americanas ainda protestavam e choravam. Eram chamadas de “loucas” e muitas foram presas. Mas a maioria das mulheres andavam com olhos brilhantes e suas filhas eram usadas como uma isca vergonhosa e “patriótica” para que os rapazes hesitantes “mostrassem sua virilidade” e se convencessem de que a guerra era uma grande aventura.
O governo americano, como dizia o comunista russo Lênin, tornou-se um servo entusiástico da conspiração internacional contra os povos do mundo, e entregou-os alegremente a seus escravizadores. Francis Porter fez discursos eloquentes publicados no Congressional Record. E foi homenageado na Casa Branca. Aquela guerra, dizia ele, era “uma aventura de liberdade contra velhos inimigos”. Citava profusamente frases de Karl Marx, sem nomeá-lo. O Presidente Wilson disse que ele era um grande patriota. Francis já passara da idade de ser recrutado. Percorria o país, vendendo bônus da liberdade, assim como o faziam outros congressistas e senadores. Seu rosto estava sempre corado de entusiasmo, de modo que parecia febril; os olhos brilhavam sob os óculos. Posou para os jornais. Deram-lhe um assessor especial para escrever seus discursos. Era um membro secreto do Partido Comunista. Achava Francis um “pobre coitado”, mas uma arma contra o povo americano. Se ria dele, era em ambiente fechado, onde os inimigos se reuniam.
— Os políticos americanos estão em nossas mãos — disse o assessor de Francis, um homem muito rico. — As perspectivas são ilimitadas. Estamos a caminho! Conforme dizem os alemães, Der Tag. — Pensando de novo em Francis, observou, com alegre malícia no rosto fino: — Que inocente! Mas ele e os de seu tipo nos ajudam em nossos propósitos. Neste outono...
Naquele outono de 1917, a Rússia saiu da guerra e os bolchevistas reduziram o povo russo — entorpecido pela guerra e pelo desespero — a uma total escravidão. O povo russo nunca votou pelo comunismo. Bastaram alguns homens cínicos para impô-lo ao povo, com a ajuda de financistas internacionais.
O inimigo histórico disse:
— Mas não teremos que impor o socialismo em outras nações, como fizemos na Rússia. Elas votarão por ele, com as frases heróicas de “igualdade e fraternidade” e “justiça social” que têm um som tão nobre, embora sejam apenas ideias abstratas sem nada a ver com a realidade.
Charles Godfrey compreendia isso tão bem quanto o inimigo. Citando Jeremy Porter, disse: “Sic transit América”. Mas refletia que, afinal de contas, a América merecia aquilo. Uma nação é culpada de sua própria morte. Decidiu que não seria um mártir, de forma alguma. “Um homem tem que viver”, dizia a si mesmo, justificando-se. “Os governos vêm e vão, mas os homens têm que sobreviver, embora eu não saiba por quê! Que é que diz a Bíblia? A árvore forte foi derrubada pelo vento, mas a grama humilde dobrou-se sem se queixar... e viveu.”
Apesar de tudo, embora a grama vivesse, foi comida pelo gado voraz. A árvore valente espalhou suas sementes e novas florestas se ergueram para desafiar novos ventos e fertilizar a terra. Teria a Bíblia falado ironicamente? A Igreja proclamava-se mais forte com o sangue dos mártires. Charles não tinha nenhuma vontade de fortificar seu país, embora sua consciência o atormentasse. Assim como muitos outros americanos, ele transigiu. Mas, no fim da vida, pensou: “Transigir com o mal é vender a alma à morte”. As nações não chegavam a uma détente com o inferno — a não ser que quisessem viver nele. Geralmente queriam.
(Anos depois, Charles achou que não era de admirar que, em seu leito de morte, o Presidente Wilson tivesse lamentado: “Sou um homem muito infeliz. Arruinei minha pátria”.)
Capítulo 31
Como Francis Porter era incapaz, por natureza, de sinceridade para consigo mesmo, para com os outros, para com a realidade, não pensou: “O meio mais rápido de me aproximar de Ellen (e de seu dinheiro) é através de seus filhos. Preciso, portanto, começar a cultivar essas crianças, que me ajudarão a conseguir o que quero”.
Esse, entretanto, era o frio e pragmático âmago da questão que ele jamais encarou com um realismo válido ou com uma ingenuidade brutal. Sempre se orgulhara de sua “franqueza”, embora nada tivesse de franco. Era incapaz de reconhecer isso, até mesmo em suas mais profundas reflexões; era um caso típico de autoengodo. Era seu próprio espelho, no qual via uma imagem de correção, de honra, de sobriedade, de “compaixão”, de justiça e de “preocupação com a humanidade”. Não era capaz de julgar-se a si próprio ou de fazer a menor autocrítica, de duvidar de si mesmo ou de sentir remorsos. Tudo o que fazia era impecável, baseado no que considerava impulsos humanitários. Nunca lhe ocorreu, nem mesmo em pesadelos, que era um Grande Inquisidor, realmente à vontade com o auto-de-fé e com instrumentos de tortura. Assim como toda a humanidade tem instintos para a crueldade e para a vingança, Francis os possuía, mas em maior escala. Quando o contradiziam, ele considerava isso uma ofensa pessoal, ofensa à sua inteligência superior, aos seus dotes, aos seus julgamentos e às suas convicções. Intimamente, dizia que a excelência nunca deve ser posta em dúvida; nem por um momento, deixava de acreditar que era excelente em tudo e acima de qualquer comparação. Aqueles que duvidavam dele deveriam ser, no mínimo, condenados e, no máximo, punidos severamente.
Francis era o tipo de homem sádico que começara a emergir após a Revolução Francesa. Era o fanático, o “reformador”, o defensor do homem comum, o lutador empenhado numa batalha contra os poderes da razão, da ponderação, da tradição, da religião estabelecida, da lei, da ordem, do orgulho, do patriotismo, da temperança, da filosofia, do equilíbrio e da civilização.
Seu pai, alarmado, adivinhara isso, já durante sua infância, pois sempre fora ardoroso, obstinado, enamorado de suas próprias conclusões, inflexível, vingativo quando lhe faziam oposição e excessivamente convencido de que sempre estava com a razão. Seus professores o tinham achado difícil, embora um ótimo aluno. Empenhara-se com ardor na guerra hispano-americana, acreditando-a justa. Mas depois da guerra acontecera um fenômeno, estranho e alheio à sua natureza: mudara de opinião. Walter desconfiava que a mudança se dera quando seu filho se defrontara brutalmente com a realidade e se retraíra por autodefesa. Ou talvez, pensara Walter, fosse a primeira experiência de Francis com a humanidade crua, entre os soldados, e ele se retirara com repulsa e ódio. Francis nunca examinara sua experiência com sinceridade, pois, do contrário, nunca se teria tornado um socialista fabiano, nem desenvolvido suas fantasias a respeito da humanidade.
Tinha, naturalmente, votado a favor da guerra contra a
Alemanha e fizera um discurso apaixonado, aprovando tal declaração. De certo modo, a Alemanha se tornara o alvo de seu ódio pela humanidade e ele usava contra os alemães invectivas que eram simplesmente invectivas contra todos os homens que não lhe obedeciam nem aos outros de seu tipo.
Enquanto o medo da guerra contra a humanidade crescia, Francis se dedicou ao “bem-estar” dos filhos de Jeremy. Para ele, era óbvio que Ellen tinha caráter fraco demais para “cuidar” dos filhos de um modo verdadeiramente maternal, ou então era estúpida, mal-educada e ignorante. Aqueles órfãos mereciam coisa melhor. O caráter deles precisava ser “moldado” com perspectivas mais amplas, sua “compaixão” deveria ser estimulada, seu senso do dever tornado mais evidente, e eles deveriam ser “encorajados” a alcançar seus horizontes. (“Estímulo” e “encorajamento” eram as palavras favoritas de Francis.) Assim sendo, começou a agir in loco parentis com os filhos de Jeremy Porter. Mas, no íntimo, sabia que eles tinham uma enorme capacidade para o mal, o que não o revoltava. Na realidade, quanto mais os via, mais se sentia ligado a eles, pois reconhecia em Christian (embora subconscientemente) sua própria capacidade para a crueldade, seu ódio por oposição, sua ambição de poder, sua incapacidade para um amor nobre. Gostava mais de Christian do que de Gabrielle, pois a menina tinha um cruel senso de humor, não gostava de ser enganada e era mais hábil do que o irmão na arte da dissimulação. Se tivesse gostado de Kipling (detestava-o, na realidade) Francis teria citado: “A fêmea das espécies é mais mortífera que o macho”. Também se inclinava a favor de Christian porque ele era, fisicamente, parecido com a mãe.
Francis tornou-se o mais amável possível com Christian, no recesso da Páscoa, em 1918, apesar dos negócios prementes que o chamavam a Washington. Christian nunca o respeitara, pois era muito mais inteligente do que ele, mas imaginava qual a melhor maneira de usá-lo em seu próprio benefício, e fingia ter grande amizade pelo “primo Francis”. Cedo compreendeu que Francis estava decidido a casar-se com Ellen e refletiu longamente sobre a melhor maneira de conseguir isso. O rapazinho detestava Charles Godfrey, um tutor severo que não se deixava levar por adulações e agrados, nem podia ser enganado. Não. Recusava aumentar a mesada das crianças; era incapaz de ser iludido por pessoas como Christian. Por isso mesmo, embora o menino odiasse Charles, respeitava-o. Mas Charles impedia-o de gozar a vida e, obviamente, não tinha grande amor pelos jovens da espécie humana. Era também amante da disciplina e conseguia convencer Ellen a não satisfazer os desejos mais extravagantes do filho. Bastava Charles dizer: “Jeremy não aprovaria”, para que Ellen fizesse o que ele queria. Christian sabia que Francis detestava Charles Godfrey e que Charles desprezava Francis.
Um padrasto, na pessoa de Francis Porter, seria mais maleável, e sua esposa seria menos dócil às sugestões de Charles. Christian conhecia a sensibilidade da mãe, sua timidez, sua suscetibilidade ao domínio de outra pessoa, seu desejo de agradar e de conciliar a todo o custo. Com Francis ela ficaria sem defesa. Ele, por sua vez, conforme acreditava Christian, ficaria vulnerável à habilidade sutil das crianças. Após alguma reflexão, Gabrielle concordou com ele. Os dois dispuseram-se a conquistar Francis tão avidamente quanto ele tentava conquistá-los. Fingiam concordar com todas as opiniões dele; olhavam-no boquiabertos, quando ele os admoestava, inclinando a cabeça com ar sério. Francis nunca suspeitou de que eles riam mais dele do que da mãe.
Os dois conseguiram a ajuda de “tia Kitty”, embora soubessem que ela queria casar-se com Francis Porter. Cautelosamente fingiram não saber dos seus planos. Apenas desejavam sua “ajuda” contra Charles Godfrey, que era dominador e provavelmente recebia um bom dinheiro como administrador dos bens de Jeremy, roubando assim duas crianças inocentes. Como Kitty detestava Godfrey e sua esposa “nova-rica”, as crianças não encontraram nenhuma oposição por parte de sua querida “tia”. Conseguiram uma aliada entusiástica. Com grande habilidade, Kitty começou sua campanha para fazer com que Ellen desconfiasse de Charles. Como ela continuava não gostando de Maude e achava Charles um tanto perigoso, isso não foi difícil. “Você deveria ouvir mais Francis, querida Ellen”, dizia Kitty. “Ele se preocupa muito com seus interesses e adora as crianças. Um homem de grande coração.” Constantemente lembrava-lhe a “dívida” que tinha para com Francis. Constrangida, Ellen concordava. Havia ocasiões em que se sentia culpada por não “apreciar” Francis devidamente e se esforçava por ser mais atenciosa com ele, por remorso, ouvindo-o cada vez mais quando ele a repreendia, embora as repreensões sempre fossem feitas de uma maneira austeramente bondosa e com uma ternura condescendente. Ellen começou a depender cada vez mais dos conselhos dele. “Francis gosta tanto das crianças”, pensava. “E elas precisam da orientação de um homem. Vê-se claramente que gostam dele.” Era o que os filhos lhe diziam, inúmeras vezes, com olhos abertos e confiantes.
Nesse meio tempo, Francis estava ocupado, em Washington. Achava que o recrutamento deveria estender-se aos administradores competentes, mesmo aos que estivessem na casa dos quarenta anos. (“Como Charles Godfrey”, dizia de si para si.) Em setembro de 1917, percebendo o inevitável, Charles alistou-se e imediatamente foi feito coronel, pelo Departamento de Guerra. Isso não agradou a Francis, mas, pelo menos, evitava a constante supervisão de Charles sobre Ellen, Christian e Gabrielle, por um considerável número de meses, colocando-os assim sob uma maior influência de Francis.
Francis não sabia que Kitty Wilder estava decidida a divorciar-se do marido, Jochan, para casar-se com ele, o mais depressa possível. Considerava-a apenas uma ajudante dedicada no caso de Ellen e de seus filhos e esqueceu-se de sua antiga antipatia por ela. Quanto a Jochan Wilder, Francis considerava-o, embora simpático, uma nulidade, sem nenhuma consciência social e nenhuma inteligência. Francis não sabia de um dispositivo do testamento de Jeremy: se nenhum dos administradores da herança estivesse vivo até a maioridade das crianças, Jochan Wilder e a firma de advocacia seriam os administradores.
“O cheiro doce do dinheiro levou milhões de homens bons às piores traições, à loucura, à ganância”, dissera Jeremy Porter, certa vez. “Transformou santos em potencial em demônios e é responsável pelas maiores crucificações de que ouvimos falar.”
— Gostaria que esta guerra continuasse por anos e anos — disse Christian à irmã, em outubro de 1918. — É muito divertido! Gostaria de ter idade para alistar-me.
Gabrielle deu uma risada irônica.
— Oh, sim, por causa do uniforme bonito, das polainas, da bengala, das continências e dos novos relógios de pulso para os homens!... e das bandas, das danças e do heroísmo. Você não tem vocação para herói, Christian. Gosta apenas da encenação.
— Você é uma pirralha — replicou Christian, rindo. —•
Uma pirralha de treze anos. Mas eu poderia fugir e alistar-me, e dizer que tenho dezoito anos, em vez de quinze.
Ellen reabrira a casa de Long Island, para os soldados feridos. Embora Francis, pedantemente, fingisse aprovar esse gesto, no íntimo não gostara do que Ellen fizera. Todo mundo sabia o que aqueles homens rudes fariam a uma casa fina, usada pelos convalescentes, o que lhe diminuiria o valor. Ellen saiu de sua apatia e passou todo o verão na casa de Long Island, enrolando bandagens, usando um uniforme cinza e branco, tocando piano e cantando para os pobres rapazes. Francis lhe dissera que isso era louvável. As crianças, entretanto, por mais que a mãe as admoestasse suavemente, não queriam saber de ir para aquela casa onde viviam pessoas que elas detestavam. Preferiam a cidade e seus amigos e a excitação dos dias de guerra.
— Seus filhos já têm idade para ficar sozinhos — disse Francis. — Você tem uma boa governanta, além de Cuthbert, que, entretanto, está se tornando inútil. Um aposentado; você deveria despedi-lo, Ellen. Jeremy não deixou ao velho quinze mil dólares, no testamento? Sim; e ele sempre teve um ótimo salário. Com certeza é financeiramente independente.
— Jeremy gostaria que ele ficasse com a família até o fim de sua vida, Francis. — Ellen falara com sua habitual timidez, mas havia agora aquela desagradável firmeza sob as palavras, firmeza da qual Francis desconfiava e que o contrariava. Quem era Ellen, por nascimento ou educação, para ousar ir contra a opinião dele? Insolência! Francis, entretanto, conseguira, um ano antes, que ela despedisse a Srta. Evans, que logo se alistara como enfermeira e partira com as tropas. Ela escrevia regularmente para Ellen e ficara satisfeita por saber que sua ex-paciente se recuperara e se unira ao “esforço de guerra”, uma frase nova, copiada dos ingleses. (A essa altura, a América estava muito amiga da Inglaterra. As celebrações do 4 de Julho não eram mais cheias de pilhérias e acusações sobre a Inglaterra.)
Francis tentara candidatar-se ao Senado, mas não fora indicado pelo partido. Fora reeleito deputado por um número muito menor de votos do que na eleição anterior e isso o deixara furioso. Além do mais, o modo de pensar do país mudava e isso também o enfurecia. Houvera um grande decréscimo de entusiasmo, à medida que a guerra continuava, principalmente depois da emenda do Ato de Recrutamento, no dia 31 de agosto de 1918, fazendo com que a idade para o recrutamento baixasse para dezoito anos. O entusiasmo diminuiu extraordinariamente quando os feridos voltaram e as listas de mortos se tornaram cada vez maiores. Havia no ar algo de sombrio e uma nova ansiedade depois que a Rússia caíra nas mãos dos bolchevistas e saíra da guerra. O povo e os jornais falavam sobre os comunistas com apreensão. Às vezes havia nos jornais cabeçalhos maiores sobre a Rússia do que sobre a guerra. Havia uma confusa indignação a favor do czar e de sua família. Os jornais nacionais começaram a publicar artigos sobre o aniquilamento de dezenas de milhares de russos que se opunham ao novo regime, sobre camponeses que eram assassinados em suas fazendas ou nas aldeias, sobre a louca exterminação da classe média e o confisco de suas propriedades.
— Se não fosse pela gripe espanhola que dizimou nosso país e desviou um pouco a atenção pública, estaríamos em “dificuldade” — diziam os amigos de Francis. — Precisamos continuar nosso trabalho com mais atenção e dedicação. Caminhamos muito. É tempo de acabarmos com esta guerra, dando toda a atenção ao nosso objetivo.
A guerra acabou, de repente, no dia 11 de novembro de 1918, havendo um júbilo inocente na América.
Foi nesse dia de excitação e de delirante alívio que Francis pediu Ellen em casamento. Ele fora, inadvertidamente, forçado a isso (embora acreditasse que Ellen não o aceitaria) pela própria Kitty Wilder.
Um mês antes, Kitty se divorciara do marido, tendo acusado a amante de Jochan de cúmplice de adultério. (Jochan casou-se com a amante no dia seguinte, apesar de algumas observações desagradáveis do juiz que concedera o divórcio a pedido de Kitty.) Na partilha, Kitty recebera um ótimo quinhão; isso e a fortuna que ela possuía, além de seus astutos investimentos em armamentos, lhe permitiriam uma vida muito confortável. Chegara a hora de ela tomar de assalto a fortaleza “virginal” de Francis. Estava convencida de que Francis não somente tinha grande afeição por ela como aliada e como mulher inteligente, que poderia ajudá-lo em sua carreira, mas também de que ele era fraco e vulnerável. Além do mais, havia muito que descobrira que Francis gostava de dinheiro e ela o tinha em grande quantidade, tendo referido isso a Francis em inúmeras ocasiões. Ele demonstrara um interesse sincero, que lhe agradara. Aconselhara-a em vários investimentos e ela expressara sua gratidão efusivamente e demonstrara admiração por sua astúcia.
Viam-se regularmente quando Francis vinha a Nova York. A um pedido insistente de Francis, Kitty tomava conta da casa de Ellen na cidade, quando esta estava em Long Island, e seguia todas as instruções dele, docilmente, o que ele muito apreciava.
Kitty tinha mais vivacidade do que quando moça, embora o esforço frequentemente a deixasse exausta. Não havia fios brancos em seus cabelos; eram tingidos com grande arte. Estava cada vez mais chique, sempre vestida na última moda, embora estivesse esquálida. Seus dentes brancos e grandes reluziam constantemente. Falava frequentemente em comícios para venda de bônus, em companhia do Deputado Porter. Sabia que Francis a admirava cada vez mais, principalmente depois que dissera que as perspectivas políticas dele estavam apenas começando a revelar-se. “Não há nada que você não possa realizar, caro Francis.” Nem por um instante Kitty imaginara que ele a considerava apenas uma ouvinte, uma pessoa útil, não uma mulher. (Ela se mostrara muito ativa, com a aprovação de Francis, na campanha para que a mulher obtivesse o direito de voto. Não suspeitava que sob essa aprovação havia uma subconsciente aversão e uma fria antipatia pelas mulheres. Nem poderia adivinhar que havia certos episódios em sua vida com seus mestres masculinos que a teriam horrorizado e que a única mulher que ele sempre desejara era Ellen Porter.)
Dois dias antes do armistício, Francis teve oportunidade de voltar para Nova York e Kitty convidou-o para jantar na casa que agora era só dela. Kitty descobrira que Francis não apreciava comida sofisticada e que não gostava mais de carne. Em verdade, era quase vegetariano, exceto por um desjejum de ovos com toucinho, de vez em quando. “Comida simples”, dizia ele severamente. “Comida sadia. É a melhor. Não existe mais lugar na América para Diamond Jim Brady e pessoas de seu tipo, nem para as Lilian Russells. Devassidão!” Kitty ria intimamente, embora na aparência concordasse com ele, forçando sua cozinheira indignada a preparar jantares de verduras cozidas com pouca manteiga ou pouco creme, pudins de arroz, sopas sem caldo de carne. Francis se dignava aceitar “um gole-zinho de vinho leve, doce”. Frequentemente acusava os americanos: “Comem demais. O dinheiro poderia ser gasto com os pobres”. Kitty não tinha ilusões sobre o homem com quem pretendia casar-se.
O jantar, como sempre, foi horrível, mas Kitty fingiu apreciá-lo, enquanto ouvia atentamente as observações pejorativas de Francis contra a “ameaça de intervenção da América na Rússia, numa época em que os russos, finalmente, após séculos de opressão, se libertaram da tirania”. Ele também criticou a “mentalidade burguesa dos Estados Unidos”. Kitty sorveu o vinho detestável e inclinou a cabeça gravemente. Depois houve uma pausa na conversa. Ela inclinou-se para Francis e disse, com ar sério:
— Nunca lhe perguntei, querido Francis, mas por que motivo um homem simpático, bonito e correto como você nunca se casou?
Ele ficou envaidecido, depois examinou o pudim cheio de passas.
— Francamente, Kitty, sempre andei muito ocupado, trabalhando para o meu país...
— Eu sei — murmurou ela, compreensiva. — Mas você precisa pensar em você mesmo, também. O auto-sacrifício é recomendável... mas um homem precisa viver.
Francis pensou de repente em Ellen. Seu rosto comprido enrubesceu e Kitty notou isso com alegria. Francis evitou-lhe o olhar.
— Kitty, há algum tempo que estou pensado em casar-me. Há muitos anos, para ser exato.
Ela fitou-o alegremente e inclinou a cabeça com expressão coquete.
— E quem é, se é que posso perguntar, a feliz dama?
Os olhos dela brilharam. Francis olhou-a de repente e viu o rostinho moreno, ressequido, estragado, com rugas profundas à volta da boca sorridente. Viu a expressão tímida, a cabeça inclinada de lado, os dentes à mostra e compreendeu tudo imediatamente; ficou horrorizado e enojado. Seu rosto enrubesceu. Ele empurrou o prato. Desejava fugir. “Deus do céu, que é que fez com que ela pensasse, por um momento sequer, que eu a levaria em consideração, ela ou qualquer outra mulher, com exceção de Ellen? Nunca a encorajei. Jamais notei como é realmente feia; um espeto negro, apesar das roupas elegantes e das joias. Se eu tivesse que tocá-la agora, gritaria!”
Em voz tensa, ele respondeu:
— Não sei se a dama seria feliz... isto é, se é que pensei em alguma em particular... mas pensei, sim... — Estacou subitamente. Aquela mulher fora sua aliada, obedecera a todas as suas sugestões em relação a Ellen e aos filhos. Ele observara que Kitty tinha grande influência sobre Ellen, assim como sobre
Christian e Gabrielle. Seria uma inimiga perigosa; Francis conhecia sua natureza cruel e vingativa. Ficou então refletindo, com pensamentos confusos, mas cautelosos. Tossiu, enquanto Kitty esperava, inclinada sobre ele, os dentes enormes brilhando sob o lustre elétrico. Francis tentou sorrir, timidamente.
— Não sei se a dama seria feliz — repetiu.
— Alguma em particular? — perguntou Kitty.
Francis começou a transpirar de leve. Sabia que não poderia deixar de falar sobre isso com Ellen por muito tempo mais, por maior que fosse seu medo de ser recusado. Sorriu de novo.
— Você será a primeira a saber, Kitty, a primeira. Prometo-lhe isso... caso eu...
“Que bobalhão”, pensou ela. Mas um bobalhão rico e poderoso.
— Você é modesto demais. Qualquer mulher ficaria honrada com seu pedido.
Embora fosse político, Francis jamais aprendera a arte da dissimulação. Era incapaz de iludir, a não ser a si próprio, nem jamais fora hipócrita conscientemente. Acreditava em suas próprias palavras; teria morrido pela convicção de sua superioridade e pelo que era melhor para o povo. Era fanático demais, convencido demais de sua verdade, para mentir ou enganar deliberadamente. Nisso estava o seu perigo para o país.
— Você é muito amável — murmurou, corando mais ainda. A alegria dela aumentou. Kitty percebeu que Francis evitava olhá-la diretamente. Agora ele transpirava visivelmente. — Kitty, dou-lhe a minha palavra: você será a primeira a saber.
Ela examinou-o e as duas rugas entre seus olhos se aproximaram.
— Eu ficaria muito sentida, caro Francis, se você não me contasse... imediatamente. Sabe como gosto de você; sou sua melhor amiga.
Kitty desatou a rir, um riso forçado e estridente. Perguntou:
— Um casamento em junho, talvez?
— Oh, não! — replicou ele, com súbita veemência. — Muito antes, assim o espero... se a dama concordar. Mas talvez ela não concorde.
“Ah, ele precisa de um pouco de encorajamento”, pensou Kitty, aliviada.
— Peça-a em casamento! — exclamou.
— É o que farei, é o que farei. — Francis estava mais amedrontado do que jamais estivera na vida. Começou a tremer e Kitty se congratulou com isso.
— Quando é que vai fazer o pedido, seu peralta?
— Dentro de um ou dois dias... quando criar coragem.
— Não há melhor época do que a presente.
Nisso Francis concordava plenamente com ela. Forçou-se a fitá-la, enquanto Kitty perguntava:
— Eu a conheço?
— Oh, muito bem, muito bem, realmente! Ninguém a conhece melhor do que você, Kitty; ninguém.
“Não há nenhuma outra”, pensou Kitty. “Ele jamais cortejou uma mulher em sua vida, nem aqui e nem em Washington. Eu teria sabido imediatamente.” Francis tirou o relógio do bolso; sua mão tremia ligeiramente.
— Peço-lhe que me desculpe, Kitty. Tenho... que passar uns telegramas hoje à noite e preciso terminar alguns discursos.
Kitty percebeu o nervosismo dele e levantou-se. Acompanhou-o até o vestíbulo, ajudou-o a vestir o sobretudo. Francis conteve um estremecimento quando ela o tocou no braço, coquetemente, fitando-o. Ele se sentiu profanado com aquela proximidade. Percebeu que respirava com dificuldade.
Caía uma chuvinha de novembro e soprava um vento áspero. Francis entrou na noite sem mais uma palavra. Kitty viu-o partir, exultante. “Eu o tenho”, pensou. “Mas não na minha cama, se puder evitá-lo. Duvido, entretanto, que eu venha a ter esse contratempo.”
Levado pelo medo de Kitty, Francis foi visitar Ellen, inesperadamente, na noite do armistício, enquanto Nova York se rejubilava e dançava e cantava delirantemente, nas ruas, “It’s a long ivay to Tipperary, it’s a long ivay to go... ”, inúmeras vezes, com lágrimas nos olhos, e vários outros cantos de guerra populares. Bandas improvisadas surgiram não se sabe de onde. Os confetes caíam como granizo. Desconhecidos abraçavam-se, rindo uns para os outros. Todas as ruas e vielas estavam cheias de cantos, de gritos, de risos histéricos e de passos apressados. Bondes retiniam em coros alegres, automóveis roncavam, vitrinas se iluminavam, crianças berravam. Os jornais eram arrancados das mãos dos jornaleiros que gritavam, envoltos numa nuvem de moedas atiradas exuberantemente para o ar. As tavernas brilhavam com luzes elétricas, as portas iam e vinham e os bares estavam repletos. Havia multidões nas calçadas e o trânsito era intenso. Os restaurantes quase não tinham capacidade para receber as pessoas que celebravam o fim da guerra. Policiais a cavalo não conseguiam conter o povo e não faziam muita força para isso, embora apitassem constantemente.
— Estou tão contente por a guerra ter acabado, Francis — disse Ellen, depois que se sentaram diante da lareira acesa da biblioteca, tomando xerez, antes do jantar. — Eu tinha muito medo, por causa de Christian, se a guerra durasse mais alguns anos. Quando penso naqueles pobres rapazes em minha casa de Long Island... Pois bem, penso em meu filho. Estou feliz por estar tudo acabado.
“Mas a verdadeira guerra está começando”, pensou Francis, “a guerra pela liberdade da humanidade no mundo inteiro.” Inclinou a cabeça, sombriamente. Ellen estava sentada perto dele, com um vestido simples de veludo preto; embora continuasse magra, tinha um ar de calma e de maturidade. Olhou para o retrato de Jeremy sobre a lareira e suspirou.
— Teria sido uma noite tão feliz para Jeremy — disse ela. Seus olhos azuis tinham uma expressão triste e seu sorriso era suave. Não cortara o cabelo, conforme a moda; estava trançado e preso no alto da cabeça, captando o brilho do fogo da lareira. A antiga pureza, a antiga serenidade imaculada tinham voltado ao seu rosto translúcido. Ela brincou com as pérolas ao pescoço e esqueceu-se de Francis. Suspirou de novo e seus seios redondos comprimiram o vestido de veludo brilhante. Francis não podia tirar dela os olhos. “Ellen, Ellen”, disse consigo mesmo.
O relógio do hall bateu nove horas. O jantar logo seria servido.
— Com certeza amanhã as escolas darão feriado para as crianças — disse Ellen. — Vou levá-las para almoçar no Delmonico’s. Uma celebração especial.
“Agora ou nunca”, pensou Francis, tremendo. Inclinou-se para Ellen, com ar insistente.
— Ellen, você nunca pensou que seus filhos precisam da orientação, dos conselhos e da solicitude de um homem?
Ela fitou-o, perplexa, e depois sorriu.
— Eles o têm, a você, caro Francis.
— Mas eu não tenho aqui nenhuma posição de autoridade, Ellen.
— Eles o adoram e você sabe bem disso. Quanto a mim, eu não saberia o que fazer sem você... e sem Charles. Você e Charles... são como pais para os meus filhos, embora Christian, aquele peralta, muitas vezes se queixe de Charles. — Ao dizer isso ela riu de leve e sacudiu a cabeça.
— Talvez ele tenha razão de queixar-se — disse Francis, em tom significativo. Ellen ficou admirada.
— Oh, não! Não, realmente, Francis. Além do mais, Christian tem você também. Ele e Gabrielle o adoram. Têm muita sorte.
— Talvez nem sempre possam contar comigo, Ellen. — As mãos de Francis tremiam e ele teve que fechá-las. — Eu talvez me case e saia de Nova York.
Ellen soltou um gritinho admirado.
— Está pensando em casar-se, Francis?
— Sim, estou. Afinal de contas, não sou mais jovem. Quero ter uma família.
Ellen estava intrigada.
— Trata-se de alguém que eu conheça? — Nunca pensara que ele poderia casar-se e ir-se embora. Teve uma leve sensação de perda.
— Sim, Ellen. Você a conhece.
Ela esperou. Percebeu o quanto ele estava tenso, viu as gotas de transpiração na testa de Francis e que suas mãos estavam fechadas.
— Digo-lhe novamente, Ellen, que deve pensar em seus filhos, para que tenham a força de um pai para aconselhá-los, guiá-los. Eles me dão às vezes impressão de que são um tanto rebeldes... um pouco ousados, principalmente Gabrielle. Você é muito mole com eles... e precisam de autoridade. A autoridade de um homem. — Prendeu a respiração e Ellen fitou-o com ar inocente. — Ellen, você nunca pensou em casar-se novamente?
Ela ficou de novo atônita.
— Mas eu sou casada! — exclamou.
— Quê? — Uma terrível confusão se apossou de Francis, um gélido horror. — Você é casada?
— Sim, claro. Casada com Jeremy. Sou a mulher dele.
As batidas terríveis do coração de Francis diminuíram de intensidade. Ele mexeu o pescoço no colarinho duro.
— Ellen, querida, você é viúva de Jeremy. Não tem marido.
O corado de Ellen, mais leve do que na mocidade, agora desapareceu de seu rosto e de seus lábios. Ela virou a cabeça e ficou em silêncio.
— E seus filhos não têm pai e precisam muito de um. Você pode perceber isso. É tímida demais, inexperiente, muito submissa, para ser uma força na vida deles. Isso é muito ruim para as crianças. Esqueça-se de você por um momento e pense no bem-estar de seus filhos. Estão numa idade vulnerável e não têm pai para protegê-los. Você precisa casar-se de novo, Ellen.
Ela estremeceu e abaixou a cabeça.
— Como é que eu poderia fazer isso, amando Jeremy? — murmurou.
— Ele está morto, Ellen, morto. Não pode mais ajudá-la, não pode ajudar seus filhos. Pense como ele ficaria preocupado, agora... com... Christian, que é quase um homem, e com Gabrielle, que está ficando moça. Eles só têm mãe, e você não é bastante severa, não tem malícia. Estamos numa nova era, Ellen, que se tornará febril muito em breve. Seus filhos precisam de proteção. Como é que pode privá-los de um pai?
A antiga sensação de culpa se apossou de Ellen e Francis percebeu isso. O rosto dela estava pálido e tenso, os lábios secos. Ele continuou, implacavelmente:
— Precisa pensar nisso imediatamente, Ellen. Seus filhos devem vir em primeiro lugar e você não pode ter um eterno sentimentalismo a respeito de um marido morto. Precisa encarar a realidade e, quanto mais depressa, melhor. Christian já é difícil de ser controlado; às vezes preciso repreendê-lo severamente. Quanto a Gabrielle... Ela lhe dá ouvidos, Ellen?
De novo a cabeça de Ellen moveu-se de um lado a outro, vendo-se que ela sofria muito.
— Um novo pai controlaria Christian e teria autoridade sobre Gabrielle. De maneira afetuosa, é claro. As crianças sem pai sempre correm perigo. Christian e Gabrielle principalmente, porque são ricos, nunca se viram privados de nada e, infelizmente, creio que não têm muitos princípios e ideais. Você não é suficientemente forte para lhes dar essas coisas, Ellen. Nunca foi. Eles são muito vivos e às vezes rebeldes. Deixe-me ser franco com você. Eles não a respeitam suficientemente. Não vê como isso é perigoso para eles? Precisam respeitar alguém. Charles Godfrey? Ele tem sua própria família; não tem autoridade sobre Christian e Gabrielle, a não ser para impedir que façam extravagâncias em matéria de dinheiro.
Ellen replicou, em voz fraca:
— Meus filhos... não gostariam que me casasse de novo. — Ela estava suplicando. Quando virou a cabeça, Francis viu medo e indecisão no rosto dela. — E como poderia casar-me de novo, lembrando-me de Jeremy?
— Aí está, Ellen! Pensando somente em você, como sua pobre tia costumava dizer e com alguma razão. Não podemos ser egoístas neste mundo, Ellen. De vez em quando precisamos pensar nos outros, infelizmente, o que você nem sempre faz.
— Penso em meus filhos o tempo todo! Vivo por eles!
Francis sacudiu a cabeça.
— Não, não vive, Ellen. Se fosse assim, reconheceria a verdade do que eu lhe disse. Você se veria como uma mulher mole e sentimental, que acredita que os filhos ainda são criancinhas e não adolescentes que precisam desesperadamente da orientação, da proteção e da autoridade de um pai. Eles estão em perigo, Ellen, em grande perigo. Logo será tarde demais. Posso ver isso. Preocupo-me constantemente com eles. (Francis realmente acreditava nisso.)
Ele continuou, enquanto Ellen torcia as mãos no colo.
— Conheço-a desde menina, Ellen, mesmo quando era mais moça do que Gabrielle é hoje. Conheço seu caráter flexível, sua incapacidade de controlar seus próprios sentimentos, seu... preciso dizê-lo novamente... egoísmo, sua preocupação apenas com seus desejos e seus impulsos. Você se esqueceu logo de sua pobre tia, que morreu sozinha e infeliz. Naquela época, como agora, você se colocava sempre em primeiro lugar. Não acha que é tempo de pensar nos outros e principalmente em seus filhos?
Como ela não respondeu, dando apenas mostra de sentimento de culpa, Francis se inclinou mais ainda para ela e tomou-lhe a mão. Estava fria, mas aquele contato o excitou de maneira insuportável. Ela não recuou; permitiu que sua mão flácida ficasse presa na dele. Estava com lágrimas nos olhos. Disse, em voz fraca:
— Mas quem se casaria comigo? Não conheço nenhum homem livre.
— Você me tem, a mim, Ellen — replicou Francis, com voz trêmula. — Tem a mim, que sempre a amei. Ellen, quer casar-se comigo e dar um pai a seus filhos, um homem que tem o sangue deles?
— Você, Francis? — Ela estava atônita, boquiaberta.
— É um pensamento assim tão horrível, Ellen? Eu a amo; sempre a amei.
Ela não podia acreditar. Estava atordoada, longe da realidade, sentindo-se distante, flutuante, em profunda confusão.
— Sempre a amei — repetiu Francis. — Desde o primeiro momento em que a vi, ajoelhada na grama, em Preston. Lembra-se de Preston, não se lembra, e da casa da família Porter? Ou se esqueceu disso, também? Dos pais de Jeremy? Eles estão velhos e esquecidos. Raramente veem os netos. De quem é a culpa, Ellen? Sei que as crianças dizem coisas desrespeitosas sobre os avós, que não têm mais ninguém no mundo, e que você não as corrige. Oh, Ellen, você também precisa de orientação e de cuidados, tanto quanto seus filhos.
Ela arregalou os olhos e havia neles uma expressão atarantada.
— Eu a amo — repetiu Francis. — Quero ser seu protetor. Quero ajudá-la. Sempre quis isso, Ellen. Sempre fiquei perto de você, em pensamento, quando não fisicamente, o tempo todo. Claro que você se lembra de que a ajudei muitas vezes. Era porque a amava. Nunca me saiu do pensamento. Não sabia disso?
Ela sacudiu a cabeça. Chorava silenciosamente, as lágrimas escorrendo-lhe pelas faces. Francis deixou-a chorar, segurando-lhe ainda a mão. Depois ela disse, em voz distante e trêmula:
— Você não sabe, Francis. Não posso mais ter filhos. Eu não seria uma verdadeira esposa para você.
— Deixe que eu decida isso, Ellen. Deixe que seja seu marido... para cuidar de você e ser a sua força.
Francis puxou-a suavemente e pôs os braços à volta dela. Abaixou a cabeça e beijou-a na boca mas, com a arte do amor, não deixou que Ellen percebesse a paixão que sentia por ela, o desejo que tinha de esmagar-lhe os lábios, de acariciar-lhe os seios e de beijá-los.
Ellen sentiu de repente um enorme cansaço, até mesmo prostração. Era como se estivesse sendo arrastada por um vento que não a libertava. Sua vontade estava entorpecida. Ela fechou os olhos, querendo apenas dormir, não ser ninguém e esquecer.
— Ellen? Quer casar-se comigo? Amanhã?
— Sim — respondeu ela ao vazio escuro à sua frente. — Sim.
Velho e frágil, Cuthbert apareceu à porta para dizer que o jantar estava servido. Ellen nunca pôde lembrar-se se naquele dia comeu ou não. Ou de ter ido para a cama. Dormiu numa espécie de torpor, de letargia, nada sentindo.
Casaram-se na manhã seguinte, na prefeitura. Um juiz chamado apressadamente por Francis realizou a cerimônia, enquanto a cidade toda se rejubilava e celebrava o fim da guerra. Naquela noite os jornais noticiaram, na primeira página, “o casamento do Deputado Porter com a viúva de Jeremy Porter, que também foi deputado, um advogado notável assassinado por pessoa ou pessoas desconhecidas, há quatro anos, em Nova York. Os dois deputados eram primos...”
Kitty Wilder leu a notícia naquela mesma noite. A princípio não pôde acreditar; depois seus amigos começaram a telefonar-lhe. A empregada teve ordem de dizer-lhes que a Sra. Wilder saíra da cidade, por alguns dias. Kitty ficou de cama, dominada pela raiva, pelo ódio e pela humilhação, com uma frustração que jamais sentira na vida. Queria matar. Não sabia quem odiava mais... se Francis Porter ou Ellen. Depois que Francis lhe telefonou, cortesmente, naquela mesma noite, para comunicar-lhe o casamento, resolveu que o mais odiado era ele.
Francis cumprira a sua promessa.
Capítulo 32
— Ainda não posso acreditar — disse Maude Godfrey a seu marido, Charles. — Como é que Ellen concordou em casar-se com aquele homem?
— Só Deus sabe — respondeu Charles, sombriamente. — Logo Francis Porter! Vejo que ele a levou imediatamente para Washington, até que cessem os comentários, creio eu. Pobre Ellen. Ele deve ter-lhe dado alguma droga, ou coisa parecida. Desconfio que ela não sabia o que estava fazendo. Pois bem, logo tirarei esta farda, querida. Quando voltar para Washington, vou tentar saber onde eles estão hospedados.
Mas Francis levara a esposa para Baltimore, para um hotel discreto, onde o gerente era um homem reservado.
Ellen ficou na suíte sombria, embora luxuosa, durante toda a semana após seu casamento com Francis. Não se deixava convencer a sair nem mesmo para ir ao salão de jantar. Movia-se num estado de estupor, como se tivesse perdido todas as forças. Não pensava em nada; podia apenar repetir para si mesma, inúmeras vezes: “Fiz isso pelos meus filhos”. Havia noites em que parecia despertar para um estado de consternação e de medo diante da lasciva violência que Francis manifestava no leito nupcial. Ele se tornara um estranho, um homem que ela nunca conhecera. Às vezes Ellen tinha a obscura consciência de mãos suarentas que apalpavam seu corpo, da respiração ofegante dele. Francis enfiava o rosto entre os seus seios, gemendo, inúmeras vezes: “Oh, Ellen, Ellen!” Impelido pelo desejo e pelo amor, nunca estava satisfeito; parecia ter perdido a razão. Ellen suportava tudo como que num sonho, como que drogada, às vezes tentando fracamente evitar beijos que lhe machucavam a boca, o pescoço, as pernas, os braços, até mesmo os pés. Francis acendia as luzes para poder examiná-la melhor. Às vezes Ellen protestava de leve, sentindo vergonha, mas isso apenas aumentava a avidez dele. O marido parecia querer devorá-la. Havia, em sua maneira de amar, uma ferocidade, uma selvageria. Era como se ele a odiasse e a amasse ao mesmo tempo. Enfiava os dedos nos cabelos da mulher, puxando-os e, quando ela gemia e procurava libertar-se, Francis a consolava de maneira incoerente, esmagando o corpo dela contra o seu, quase a sufocando.
— Você não sabe, você não pode saber quanto tempo esperei por isso, minha querida, todos esses anos! Não pode saber como sonhei com isso durante longas, longas noites! Dê-me a sua mão; sou seu marido, dê-me sua mão! Amo-a, Ellen, amo-a. Compreendeu? Amo-a.
Era insaciável. Acordava-a várias vezes durante a noite. Ellen tinha impressão de que o corpo do marido estava sempre em cima dela. O rosto magro de Francis estava sempre rubro e inchado, a ponto de ser irreconhecível. Às vezes Ellen sentia por ele um medo rápido, mas intenso, pois nem mesmo Jeremy demonstrara uma paixão tão selvagem. Muda, finalmente, ela ficava inerte, sem resistir, não mais sabendo se era dia ou noite. Era como alguém que se tivesse entregado à imolação. Pensava: “Por meus filhos, por meus filhos”.
Se tivesse sido menos inocente e menos ingênua, teria tido pena dele, teria tido compaixão por aquele homem perturbado que a amava com um ardor tão brutal e a tratava com uma fome tão bárbara. Teria compreendido que somente um homem que levara uma vida austera, que se privara de sexo durante muitos anos poderia chegar a tais excessos, àqueles ofegos quase insanos, àquelas exclamações, àquelas vergonhosas explorações. A piedade de Ellen, então, teria despertado nela uma ternura e uma percepção, apesar de ver seu corpo profanado. Ela não se teria sentido tão violada, tão degradada. Talvez chegasse a ter por Francis uma afeição profunda, mostrando-se suave, compreensiva, comovida com a frenética excitação do marido, e com suas atividades violentas e dolorosas, suas mãos e sua boca incansáveis. Talvez tivesse mesmo chegado a ficar lisonjeada, mais tarde.
Mas ela era inocente e inexperiente; não podia compreender tal descontrole num homem que considerava excessivamente controlado e reservado. Não podia imaginar semelhante amor, nem a impetuosa sensualidade que parecia ser uma força terrível, separada dele, embora o impelisse. Se ela tivesse compreendido, mesmo vagamente, os anos seguintes teriam sido completamente diferentes, tanto física como mentalmente.
Ela só podia sentir medo e repulsa, assim como um desejo confuso de escapar de Francis e nunca mais vê-lo, desejo de esquecê-lo para sempre. Nisso estava a tragédia mútua. Completamente vazia, não podia resistir, não podia falar com ele, nem mesmo quando jantavam juntos. Tinha sempre consciência dos olhos do marido procurando seu corpo; ele estava sempre avançando para ela, mesmo no meio de uma refeição, arrastando-a para a cama em desordem, enquanto a comida esfriava e a claridade de inverno se tornava ainda mais apagada devido às venezianas que nunca se abriam. Às vezes, no meio de seu silêncio submisso e de sua entrega, ela desejava morrer, desejava não se lembrar de nada, nem mesmo de Jeremy. Houve ocasiões em que procurou escapar. Mas agora não tinha mais força, nem vontade.
Eles não tinham conversado em meio à tormenta, não houvera troca de sorrisos, nenhuma observação sobre o tempo ou o futuro de ambos. Havia apenas algumas horas de cochilo e depois outras frenéticas copulações. Havia raras ocasiões em que, satisfeito, Francis a olhava com ar súplice, dizendo quase timidamente: “Ellen? Ellen?”, mas ela não queria e não podia encontrar o olhar dele, incapaz de responder ao apelo patético. Ficava então em silêncio, vendo o rosto pálido e inexpressivo, na semi-obscuridade do quarto, as mãos imóveis, o corpo inerte. Levava-a, então, de novo para a cama, fazendo um esforço para obrigá-la a corresponder com o mínimo gesto, a sombra de um sorriso, a menor das palavras. Mas isso jamais aconteceu. Sentia-se lesado, mas não sabia por quê, e ferido, sem poder compreender. -
No último dia, após uma noite que parecera interminável a Ellen, ele disse:
— Temos que partir hoje para Nova York, às quatro horas. Ellen?
Ela inclinou a cabeça e docilmente começou a fazer as malas. Tinha a aparência de uma pessoa gravemente enferma e alquebrada. Parecia ter voltado ao dia em que saíra do sanatório. Francis observava-a, desesperado. Dera-lhe tudo aquilo de que era capaz e ela parecia uma mulher que tivesse sido violentada e depois jogada de lado. Ellen não lhe disse uma palavra na viagem de trem. Olhava pelas janelas cobertas de fuligem, parecendo uma morta. Francis segurou-lhe a mão, também inerte. “Não sei, não sei”, disse ele de si para si. “Há alguma coisa errada... e eu a amo. Certamente ela agora deve saber disso.”
Christian e Gabrielle ficaram encantados e riram juntos, enquanto sua mãe passava a lua-de-mel com o novo marido. Exultante, Christian disse:
— Agora posso ter o que quiser. Meu querido papai será dominado por mim.
Gabrielle tinha mais discernimento. Seu rosto moreno e petulante estava sorridente e seus olhos brilhavam.
— Espero que sim — disse ela, com sua voz bonita. — Seremos muito meigos e bonzinhos com ele, não é? Vamos deixar que pense que o admiramos e que lhe obedeceremos. Nunca deixaremos que saiba o que realmente pensamos dele. É um tolo, não é? Mais tolo ainda do que mamãe. Ou talvez não. Veremos.
— Que será que a querida tia Kitty está pensando disso, Gaby?
— Sua empregada disse que ela ainda está fora da cidade. Mas garanto que está dando murros no travesseiro, mordendo as mãos e amaldiçoando mamãe. Gostaria de dar uma espiada em seu quarto, neste minuto! Ela deve ser uma figura! É tudo muito engraçado.
— Acho que deveríamos continuar cultivando tia Kitty
— disse Christian, passando a mão nos cabelos ruivos e brilhantes.
— Claro. Acho também que ela será mais valiosa para nós agora, do que antes. — Gabrielle torceu no dedo um de seus cachos e ficou pensativa. — Ela sempre detestou mamãe. Agora será pior. Precisamos planejar como iremos usá-la. — Gabrielle riu. — Você notou a cara infeliz de tio Charles, quando nos disse que devemos ser “bonzinhos” com o nosso padrasto? E aquela horrível Maude, que enxerga muito mais do que parece. Pois bem, eles agora estão fora de nossa vida e devemos ficar contentes com isso.
— Preciso começar a tentar convencer papai a me deixar sair de Groton — disse Christian. — Não aguento mais aquele colégio.
— Espero que mamãe não o contrarie. Não que ela tenha feito isso muitas vezes. Não ria do que lhe vou dizer, Chris, mas no fundo de mamãe há alguma coisa que não pode ser removida.
— Oh, as pessoas estúpidas podem ser teimosas, como as mulas. Sei disso. Mas papai é ainda mais teimoso. Ele acha que deve isso a si próprio e às suas convicções. Temos então que convencê-lo de que o que nós queremos foi decidido por ele e não por nós. Deve ser fácil. Ele pensa que é um intelectual, quando na realidade é um fanático que apenas mastiga as ideias dos outros. Ele me deu um livro de Engels e, quando inocentemente lhe perguntei o sentido de certas coisas que Engels escreveu, ficou confuso e mudou de assunto. Eu tinha entendido muito bem o que perguntei. Não vamos ter muito trabalho com o nosso novo e querido papai, Gaby.
— Nada é simples — replicou Gabrielle, franzindo a testa. — Nada é direto e claro. Apenas nos iludimos quando pensamos que é. Você pode dizer que papai é um idiota, até mais do que mamãe, mas um idiota pode ser perigoso e esperto. Precisamos ter cuidado.
— Terei cuidado — replicou Christian. — Tenho que voltar para aquele maldito colégio na segunda-feira, antes que mamãe chegue com o seu amado. Acho que deveríamos fazer uma visita à querida Kitty e chorar em seus braços.
À sua maneira esperta e refletida, Gabrielle ficou considerando isso. Depois seu rosto se iluminou e ela inclinou a cabeça. Vestiu seu manto de lã cor de vinho, com gola de castor, colocou na cabeça o gorro também de pele, enquanto Christian punha seu sobretudo de escola e o boné. Dirigiram-se alegremente para a casa de Kitty, tão parecida com a deles. A neve caía na rua, fazendo montinhos nas calçadas. Um ar festivo ainda animava a cidade. Escurecia e as lâmpadas da rua começavam a brilhar. Um ônibus vermelho de dois andares, onde se lia “Riverside”, passou roncando pela Fifth Avenue. As vitrinas começaram a brilhar e o número de pessoas nas ruas aumentou.
A empregada de Kitty hesitou quando Christian, delicadamente, lhe perguntou se podiam falar com a sua patroa.
— Não creio que ela esteja em casa — respondeu a moça.
— Vou ver.
Contra a vontade, deixou que as crianças entrassem no hall pequeno e quente, com seu alegre papel de parede branco com listras vermelhas, e subiu a escada estreita. Momentos depois desceu, inclinou a cabeça e levou os dois irmãos para a saleta onde muitas vezes eles tinham visitado Kitty. Um fogo baixo ardia na lareira e um ou dois abajures davam à sala uma luz suave. Gabrielle sempre apreciara o gosto com que a sala fora mobiliada, gosto elegante, mas não íntimo. Achava a casa muito mais calma do que a de sua mãe, embora não fosse a quietude do repouso. Tinha uma aura expectante, como a própria Kitty. Parecia existir ali uma excitação latente.
Kitty entrou na sala, enrolada num roupão de seda azul-marinho. Aplicara rapidamente no rosto pó-de-arroz, ruge e batom, o que tornava ainda mais intensa sua palidez amarelada. Mas um sorriso largo enchia seu rosto, disfarçando as marcas escuras sob os olhos e as manchas vermelhas das pálpebras.
— Meus queridos, meus queridinhos! — exclamou ela, estendendo os braços extremamente magros, onde as mangas caíam como as de um quimono.
Gabrielle correu e escondeu o rosto no ombro de Kitty, enquanto Christian se adiantava com uma expressão sombria e beijava a face da dona da casa.
— Que choque deve ter sido para os meus queridinhos!
— disse Kitty. — Vamos nos sentar e tomar chá e ter uma conversinha. — Soltou um suspiro significativo. Repetiu: — Que choque! E os jovens são tão sensíveis!
— Mamãe não nos disse uma palavra — queixou-se Gabrielle. — Foi Cuthbert quem teve que nos contar. Que coisa cruel! Christian e eu nos sentimos tão... tão traídos. Achamos que não gostamos mais do primo Francis. Mal podemos acreditar!
— Mal podemos acreditar! — confirmou Christian.
Kitty chegara à conclusão de que Ellen não somente era estúpida, como sempre achara, como também dissimulada. Que mais poderia explicar aquele casamento incrível e inesperado, a não ser a astúcia? Ellen enganara habilmente todo mundo e Kitty estava humilhada por não ter percebido essa astúcia antes. Aqueles vazios olhos azuis eram na realidade uma emboscada de onde ela ardilosamente observava todo mundo, rindo em segredo. Kitty umedeceu os lábios vermelhos e seus olhos se contraíram com expressão vingativa. Ouviu com prazer as chorosas acusações de Gabrielle contra a mãe e viu que Christian inclinava a cabeça, com ar sombrio. Kitty suspirava continuamente, enquanto dava tapinhas na mão de Gabrielle. Finalmente, disse:
— Pois bem, não devemos julgar, não é? Mas sua mãe não ter contado a mim, sua melhor amiga! Sua mais leal amiga! As coisas que ouço dizer... Não importa. O que está feito, está feito e, nesta situação, precisamos fazer o melhor possível. Foi tão precipitado, tão em desacordo com o temperamento de Francis! Ele nunca me pareceu um homem impulsivo. Pelo contrário, eu o achava controlado demais. Às vezes fico imaginando ...
— Mamãe deve ter-lhe prometido alguma coisa — disse Christian. Kitty olhou vivamente para ele. O rapazinho corou e acrescentou: — Quero dizer que ela o convenceu de que seria uma boa esposa para ele. Talvez venha a sê-lo. De certo modo, ele é muito simples. Espero que goste de mamãe e que seja um bom padrasto para nós. Mas não foi direito fazerem isso com Gaby e comigo... não nos contarem nada, mandando recado por um criado.
Kitty fitou-o com ar tristonho.
— Deve haver uma explicação, querido. Temos que esperar até sua mãe voltar. Um ou dois dias depois, irei visitá-la. Precisamos saber perdoar.
Depois que as crianças saíram, Kitty sentiu certa satisfação. Não poderia casar-se com Francis, mas um dia teria a sua vingança. Tomou mais uma xícara de chá e cantarolou baixinho. Sim, ela se vingaria.
Quando soube que Ellen voltara para Nova York com seu novo marido, Kitty esperou três dias e depois foi visitá-la. Não ficou admirada por saber que Francis partira apressadamente para Washington naquela manhã. Ficou encantada por ver que Ellen estava num estado de letargia e de confusão, muito pálida, os cabelos menos brilhantes e em desalinho. Os grandes olhos azuis que ela tanto detestava estavam velados, como os olhos das pessoas velhas, e Ellen mal parecia perceber a presença da amiga.
— Sua levadinha, fugindo como uma encantadora colegial, sem avisar os amigos! — exclamou Kitty, agarrando os braços inertes de Ellen. Em tom mais alto, continuou: — A cidade inteira está falando, excitada com o caso. Tantas especulações! Ninguém acreditava que Francis se casaria. E o tempo todo vocês estavam planejando isso! Peraltas, peraltas. — Afastou-se um pouco de Ellen e ficou contente por notar que ela estava usando um vestido velho, de lã marrom, que não a enfeitava, sem nenhuma joia a não ser a aliança de ouro. Parecia muito doente e confusa, sempre puxando para trás os cachos dos cabelos mal presos e olhando distraidamente à volta. A curiosidade de Kitty aumentou e ela olhou avidamente para a amiga. Mas Ellen estava caída na poltrona perto da lareira da biblioteca, como se a vida a tivesse abandonado. Até agora, não dissera uma única palavra.
O fogo crepitava. Cuthbert entrou com o chá, bolinhos e xerez e olhou para a patroa com olhar tristonho sob as sobrancelhas brancas. Kitty esperou até ele sair. Julgou que Ellen fosse servir o chá, mas a dona da casa olhava para o fogo com expressão vazia. Finalmente Ellen falou, sem se virar para Kitty.
— Fiz isso pelas crianças — disse, em voz incolor. — Precisam de um pai. Foi o que Francis disse: “Precisam de um pai”. Ele... me fez sentir culpada e eu tinha mesmo culpa. Não tenho sido uma boa mãe para meus filhos. Sempre foi... — Olhou de repente para o retrato de Jeremy sobre a lareira. Seu rosto teve uma contração; ela cobriu-o com as mãos e balançou-se na cadeira, gemendo fracamente.
— Fiz isso por eles — gaguejou, com voz angustiada. — Por meus filhos.
Capítulo 33
Naquele dia quente de agosto de 1922, Charles Godfrey olhou com ar truculento para seu visitante. O calor da rua penetrava no escritório e nenhuma brisa agitava as cortinas de veludo marrom. Uma luz forte iluminava a parede oposta.
— Já falamos sobre isso inúmeras vezes, Francis — disse Charles. — Você conhece o testamento de Jerry. Ellen tem direito aos juros e aos dividendos de toda a fortuna e até mesmo a um pouco do capital, se for absolutamente necessário, mas apenas se for absolutamente necessário. Estamos numa época de inflação. Não preciso dizer-lhe, mas felizmente o mercado de ações está em ascensão e, consequentemente, também a renda de Ellen. Temos sido bastante conservadores, só comprando títulos de absoluta confiança. Era assim que Jerry agia. Ele nunca foi jogador, quando se tratava de dinheiro. Respeitava-o demais, embora não fosse o maior interesse de sua vida.
— Não. Eram as mulheres — declarou Francis. Charles encolheu os ombros, sem ligar a essa observação.
— Não somos otimistas a respeito de uma prosperidade permanente, de modo que estamos sendo cautelosos — disse Charles. — Não houve necessidade de recorrer ao capital. Os fundos em favor de Gabrielle e de Christian estão intatos; na realidade, estamos aumentando-os com a renda que sobra. Você sabe que ninguém pode tocar nesses fundos. Ninguém. Ellen insinuou que gostaria de ter uma renda maior?
— Ela não entende nada de dinheiro — disse Francis, com certa amargura. — Mas sou seu marido e tenho alguns direitos, sabe? Tenho o direito de proteger a sua renda. Quando os pais de Jeremy morreram, há dois anos, deixaram uma boa fortuna para os netos, embora nada tivessem deixado para Ellen. Acho que foi uma grande injustiça. Levando em consideração essa herança, acho que a renda de Ellen deveria ser aumentada, e bastante.
Charles pegou uma caneta e começou a bater com ela na escrivaninha.
— Não há meio de se fazer isso. Você é advogado, Francis. A herança das crianças, por parte dos avós, não pode ser tocada, de acordo com os testamentos de ambos. Eles entrarão na posse do capital quando fizerem vinte e um anos. Nesse meio tempo, a fortuna deles está aumentando, embora grande parte esteja aplicada no que considero ações duvidosas.
Charles examinou Francis atentamente. Certa vez Jeremy mencionara Thoreau, que afirmava que os reformadores tinham um “mal” secreto. Ele dissera a Charles que talvez o “mal” de
Francis fosse ter tido um pai muito forte, sensato e dominador. Observando as duas manchas vermelhas no rosto de Francis, Charles duvidou disso; em todo caso, não sabia qual a resposta. Era-lhe impossível saber se ele tinha realmente um “mal” e se essa doença da alma era causada pelo fato de ele não ter tido ninguém que o amasse realmente, como no subconsciente desejava ser amado, um amor que não pedisse nada, compreendesse tudo e soubesse dar com ternura. O pai o amara, embora não da maneira ardente que ele desejaria; então, desesperado, Francis odiara o pai e desejara vingar-se dele, de tudo o que era e de tudo o que representava. Francis nunca soubera conscientemente que odiara o pai; isso teria violentado seus princípios rígidos.
Mas alguma coisa atingiu Charles, apesar de seu exaspero e de sua antipatia por Francis. Piedade. Francis era um homem muito rico, que cobiçava a fortuna da esposa, um homem que gastava muito pouco em coisas supérfluas e era avarento. Estava vivendo quase que exclusivamente da renda de Ellen, embora ainda não tivesse convencido a esposa a vender a casa de Long Island, que Jeremy comprara e amara. Economizava tudo o que podia de seus honorários como advogado, pois na última votação não fora reeleito para o Congresso, acusando disso a “burguesia que só pensa em dinheiro”. Muitos dos antigos amigos de Jerry consideravam Francis detestável, mas Charles tinha pena dele, sem realmente saber por quê.
— Sinto muito, Francis, que Christian não tenha podido entrar em Harvard. Mas você lhe deu ouvidos, quando ele disse que não suportava mais Groton, e permitiu que ele frequentasse uma escola barata, de segunda classe, em Nova York. Suas razões não são da minha conta. Em todo caso, se ele fosse obrigado a continuar em Groton, talvez tivesse passado nos vestibulares para Flarvard. Agora eu soube, por Ellen, que o máximo que você pode fazer por ele é tentar que seja aceito no City College e mesmo isso será difícil. É uma pena. Ele é um rapaz excepcionalmente inteligente, embora preguiçoso. Não suportou a disciplina de Groton. Isso é lamentável. Parece que ele não tem ambição, tampouco, embora eu tenha ouvido dizer que se interesse muito por dinheiro.
— Christian não é um bruto. Não é vulgarmente competitivo! Não é materialista, como muitos rapazes de sua idade. Ofendo-me com sua insinuação de que Christian é ganancioso, Charles. Ele tem um senso de responsabilidade para com os outros; quer ajudar. Temos grandes conversas sobre isso, quando estamos sós. Ele é naturalmente humanitário!
Charles notou que o rubor colérico aumentara nas faces de Francis. “Deus do céu! Christian, um humanitário!”, pensou Charles. “Tanto quanto um crocodilo.”
Charles ficou admirado que até mesmo uma pessoa como Francis fosse tão ingênua, tão pouco perspicaz. Mas homens como ele tinham uma tendência a iludir-se, se isso fosse vantajoso para alguma coisa íntima, alguma doença dentro deles.
— Ellen compreende — continuou Francis. Seu pincenê brilhou à clara luz do dia. — Ela se sente muito feliz por Christian estar tão interessado nas reformas que precisamos ter na nossa injusta sociedade americana. Ela contribui generosamente para várias associações de caridade e para algumas causas que lhe recomendei. Faz parte do conselho de muitas organizações.
— Sim, eu sei — disse Charles. Não acrescentou: “Mas é com o dinheiro dela, não com o seu, Francis. Este você usa para as suas traições preferidas para com sua pátria, para as ideias perigosas, as tramas malignas. E você nem mesmo percebe o que elas são, seu miserável idiota!” Os olhos de Charles brilharam de cólera. Ele disse:
— Felizmente Gabrielle vai muito bem na escola de aperfeiçoamento, em Connecticut, de modo que dela não temos motivo de queixa.
Francis voltou teimosamente ao assunto.
— Achei que talvez fosse possível Ellen usar um pouco do capital da fortuna de Jeremy, para contribuir para causas justas, em nossa pátria. Acho que isso seria possível, de acordo com os termos do testamento... uma despesa... digamos... necessária?
Charles ficou de novo encolerizado.
— Despesa? O testamento diz: “Se for necessário”. — Com uma ênfase propositadamente paciente, ele acrescentou: — Isso quer dizer: se ela precisar de mais dinheiro para as suas necessidades e as dos filhos. Há uma grande diferença entre “despesa” e “necessidade”, como você mesmo deve saber.
— Mas se for esse o desejo de Ellen... Se ela contribuir com parte de sua renda atual e depois precisar de mais dinheiro, porque sua renda se tornou insuficiente para suas necessidades ...
— Isso seria uma fraude, não seria, Francis? — perguntou Charles, calmamente.
Francis empertigou-se na cadeira.
— Não vejo a coisa sob esse aspecto, Charles.
— Deixe-me dizer-lhe uma coisa. A renda de Ellen é para sua subsistência. Se ela contribuir para “caridade”, isso tem que sair de sua renda bastante grande e não do capital. Somente em caso de emergência, uma doença prolongada ou um período de tremenda inflação, é que poderia recorrer ao capital. Não vejo nada disso, atualmente.
Charles olhou deliberadamente para o seu relatório. Depois disse, um tanto formalmente:
— Não vi Ellen, desde que vocês voltaram da viagem à Europa. Espero que tenham gostado. A última vez em que Ellen esteve lá foi com Jeremy, antes de a guerra estourar. Como vai ela?
— Um tanto decepcionada de não ter podido, devido ao rompimento de nossas relações diplomáticas com a Rússia, visitar aquele país fascinante. — Os olhos pálidos de Francis desafiaram Charles.
— Oh, você se refere aos sovietes. Pois bem, visitei a Rússia antes da. guerra, quando era um país relativamente livre e civilizado, a caminho de se tornar uma monarquia constitucional. Duvido que Ellen ficasse satisfeita ao ver o horror daquela pobre nação atualmente. Ela é muito sensível para se sentir feliz na companhia de assassinos, senhores de escravos, tiranos sanguinários. Creio que aquele país agora viraria o estômago até da pessoa mais insensível do mundo. Você precisa desculpar-me, Francis, tenho que estar no tribunal dentro de meia hora.
Francis empalidecera e ficara imóvel. Levantou-se, afinal, olhando para Charles, que, indelicadamente, não se levantou.
— Você não sabe o que está dizendo, Charles. Lê demais, em nossos jornais exaltados e em nossas revistas e livros veementes, coisas sobre a Rússia e dá ouvidos a muitos de nossos políticos reacionários, que têm suas razões para mentir descaradamente.
— E que é que você lê? — perguntou Charles, com olhos que pareciam pontas de aço polido. — Como é que as suas leituras são contrabandeadas para a América? E por quem?
Francis virou-se e saiu do escritório. Charles ficou sentado na escrivaninha durante vários minutos, de mãos fechadas.
À noite, contou a Maude a conversa que tivera com Francis Porter. Ela ouviu-o em silêncio; depois, disse:
— Estou preocupada com Ellen. Não a vejo desde junho, e o mesmo acontece com a maioria de suas amigas, com exceção daquela execrável Kitty Wilder, que, pelo que ouvi dizer, parece estar sempre em casa dela. Ouvi também dizer que Ellen está vencida, até mesmo patética. Nunca foi muito decidida, mas parece que agora está silenciosa demais, séria demais. Raramente convida ou aceita um convite para jantar. Telefonei para lá várias vezes. Disseram que ela não estava em casa. Você sabe que a convidamos e convidamos aquele homem várias vezes para jantar aqui conosco, ou para irmos juntos à ópera, e ela sempre recusou, com uma desculpa tola. Faz mais de ano que não nos convidam para a casa deles.
— Não creio que você apreciasse a companhia dos novos “amigos” dela, ou antes, dos amigos de Francis. Oh, são impecáveis social e financeiramente, mas são o que agora chamamos de “simpatizantes” do comunismo. Conheço alguns. Não; você não apreciaria a companhia deles e nem eu, tampouco.
— Ellen ainda está em Long Island, sozinha?
— Está. Por quê?
— Creio que irei visitá-la amanhã — disse Maude, em tom resoluto. — Sem telefonar antes. Tenho alguns amigos lá, de modo que, se Ellen se recusar a receber-me, poderei ir vê-los por uma ou duas horas.
— Não quero que você seja desfeiteada, Maude.
Ela arregalou os belos olhos escuros e sorriu com ar divertido.
— Jamais reconheço uma desfeita, Charles, porque sou uma dama. E Ellen nunca foi deliberadamente grosseira, em toda a sua vida. Ela também é uma dama. Não me importo de ser recebida friamente, mas Ellen sempre foi delicada, mesmo quando não gostava de uma pessoa. Assim como não gosta de nós, por alguma razão desconhecida. Estou preocupada com ela, muito preocupada. Talvez haja uma maneira de eu poder ajudá-la.
Ellen estava sozinha, sentada no jardim dos fundos da casa branca. A varanda estava cheia de luz e do ruído do mar. Ali, no jardim, havia mais silêncio. Um vento quente agitava os pinheiros, os bordos, os vidoeiros, os olmos e os carvalhos; as folhas balançavam-se contra o céu brilhante. A parte de trás da casa estava coberta de hera; os canteiros tinham um colorido tão forte que quase machucava a vista. Ellen estava sentada numa cadeira de vime, sob um olmo; estivera fazendo um trabalho de petit point para uma bolsa. O bordado estava agora sobre seus joelhos, enquanto ela olhava os pinheiros. Usava um vestido de verão (azul-claro, bordado, com uma gola larga de renda) e sandálias combinando. Estava tão imóvel que nem parecia respirar, dando a impressão de estar meio adormecida, pois as pálpebras permaneciam caídas, mesmo enquanto ela olhava as árvores. Estava agora perto dos quarenta anos, mas, mesmo assim, tinha um corpo moço. Havia rugas à volta dos lábios, que tinham perdido quase que completamente o colorido da mocidade; as faces pálidas, quase chatas, tinham rugazinhas à volta dos olhos. Somente os cabelos tinham vida, com seu tom de fogo, o vento fazendo com que algumas mechas caíssem sobre a testa lisa e as orelhas. Gabrielle muitas vezes insistira, impacientemente, para que ela cortasse o cabelo e ficasse “moderna”. Mas Ellen sabia às vezes ser firme. “Seu pai não gostaria”, dizia ela, sorrindo de leve.
Agora não estava “pensando”, na verdadeira acepção da palavra, nem tinha perfeita consciência do lugar onde se encontrava. Naqueles quatro últimos anos, vivera numa espécie de apatia. Concordava com quase tudo o que lhe diziam, mas não devido à sua antiga vontade de agradar e sim por indiferença. Tinha um ar de crônica exaustão, embora jamais tivesse consciência de estar cansada ou de estar sendo dominada. Vivia cada dia e ia para a cama cada noite com movimentos maquinais, vestindo-se, tomando banho, fazendo visitas quando a polidez o exigia, sorrindo quando esperavam que sorrisse, respondendo quando lhe dirigiam a palavra, falando com voz suave, mas nunca dando uma opinião própria, nunca se mostrando interessada, nunca se animando ou discutindo. Via a beleza, mas não a sentia como antigamente. Era como se olhasse para um quadro, apreciando sua beleza, mas sem se apaixonar e sem se envolver. Quando estava com amigos, tinha a impressão de estar olhando para estranhos, e ficava à parte, ouvindo, sem participar da conversa, quase que totalmente alienada.
Vivia, mas apenas externamente. Lia, mas nunca se lembrava do conteúdo dos livros. O mundo se agitava à sua volta, mas ela se mantinha à parte. Fazia três anos que Francis não se deitava em sua cama e nem mesmo entrava em seu quarto. Não fora Ellen que o repelira, nem lhe ocorrera isso. Mas Francis, intimidado pela falta de reação por parte da esposa, pelo olhar vazio, pela inerte submissão, pelo desinteresse por ele e pelo que ele fazia, tinha finalmente deixado de exigir. Tornou-se, como antes do casamento, completamente impotente sexualmente. Não deixara de amar a esposa. Amara-a durante muito tempo, com muita paixão, para que isso pudesse acontecer. Mas Ellen se achava agora mais afastada dele do que no tempo em que estivera casada com Jeremy. Francis olhava-a ansiosamente, falava com ela e ela lhe respondia de maneira agradável, mas ele não mais a desejava sexualmente. Fazia um ano que nem mesmo a beijava. Afinal de contas, pensava ele, quando se sentia solitário, estava com quase cinquenta anos e não sentia mais desejo.
Apesar disso, vendo-a silenciosa, muitas vezes perguntava a si próprio: “Em que estará ela pensando? Que é que deseja?” Via que Ellen se animava quando os filhos estavam presentes, mas era mais uma ligeira agitação do que interesse. Francis sabia que ela amava os filhos; quando eles estavam presentes, a voz de Ellen se tornava mais suave e seus olhos ganhavam um ligeiro brilho. Depois ela parecia distante, embora sorrisse enquanto os ouvia. Nessas ocasiões Francis refletia que também ela não era mais moça. Atingira a placidez da meia-idade, era uma boa anfitrioa, uma boa mãe, uma esposa obediente, amável e agradável, pronta a satisfazer qualquer necessidade do marido ou dos filhos. Se se aborrecia com a ausência do marido, não dava disso demonstração.
Em que pensaria ela? Francis se perguntava. Quando fazia a Ellen tal pergunta, ela o fitava, admirada, e respondia:
— Ora, não estou pensando realmente em nada.
Era nisso que acreditava; era sua única defesa contra a vida.
Às vezes dizia a Francis que lhe era grata pelos cuidados que dispensava a Christian e a Gabrielle, grata por ver que se preocupava com eles. Christian estava agora mais educado do que nos anos anteriores e Gabrielle não era tão petulante, nem tão agressiva no falar. Apesar disso, a indiferença de Ellen às vezes se transformava em constrangimento ante um gesto do filho, um olhar de esguelha da filha, quando conversavam com o padrasto. Desde a infância, os dois tinham sido muito unidos. Viviam num mundo próprio, impenetrável, do qual as outras pessoas eram excluídas, embora eles fossem bons companheiros para os amigos, que eram numerosos, demonstrando também grande vivacidade com os convidados. Ellen muitas vezes se admirava dessa vivacidade que fascinava as pessoas de fora, embora não a fascinasse. Pareciam desejar ardentemente aventuras e experiências. Interessavam-se por tudo; nada lhes era indiferente.
A infância de Ellen agora lhe parecia remota, como se tivesse pertencido a outra pessoa. Somente uma coisa vivia nela, brilhante como a manhã: a lembrança de Jeremy. Vivia apenas por essa lembrança, perene, imortal, sempre presente. Não mais chorava, ao recordar-se dele, pois sentia que vivia no círculo da vida eterna de Jeremy e que ele nunca a deixara. Quando sonhava com o primeiro marido, sorria, falava-lhe, ria com ele. Por amor a Jeremy, ela aguentava. Tudo o mais era sem nuanças, de duas dimensões, irreal, sem emoção e sem paixão; não existia realmente. Ela não participava da vida, sabendo vagamente que a participação a despertaria para um sofrimento intolerável e a levaria à loucura. Seu espírito sabia disso e, portanto, punha uma barreira entre ela e uma vivida percepção. O instinto de sua carne se unia à conspiração para conservá-la sensível, mas a salvo da realidade.
Até mesmo a morte do velho Cuthbert, dois anos antes, não a tinha afetado muito. Tentara sentir dor; fora apenas mais uma sombra e, durante algum tempo, ela se acusou de “insensível”. Uma emoção, entretanto, permaneceu, isto é: sua antiga e crônica sensação de culpa, quando se via obrigada a negar alguma coisa aos filhos, ou quando nem sempre concordava com Francis. Depois tentava conciliar, apaziguar; as crianças, então, aproveitavam-se disso. Francis apenas se mostrava magoado.
— Faço o possível para alargar seus horizontes, Ellen — dizia ele, em tom duro. — Faço o possível para educá-la. Você teve pouca educação e conhece muito pouco do mundo.
— Sei disso, sei disso! — replicava Ellen, às vezes tocando timidamente no braço do marido. — Sou uma mulher estúpida, mas sinto...
— Que é que você sente, Ellen, se é que sente alguma coisa?
Ela sorria, constrangida.
— Pois bem, o que você acabou de dizer... Não posso concordar com isso, Francis. Não sei por que motivo, mas não posso concordar. É como se... Jeremy... também não concordasse.
A menção daquele nome odiado fazia com que Francis se contraísse. Ellen percebia isso e se sentia culpada, condição que Francis procurava reforçar.
— Seu marido, agora, sou eu, Ellen.
— Sim, naturalmente.
Mas Ellen nunca acreditara nisso. Francis, para ela, ainda era o Sr. Francis, e lhe era grata, embora já tivesse esquecido qual a causa dessa gratidão. Às vezes gostava dele, como gostara na infância. Não fazia nada sem licença de Francis, sem consultá-lo. Frequentemente procurava ser-lhe agradável, como se procura agradar a um amigo solícito que foi ferido sem culpa nossa. Nessas ocasiões, lembrava-se da tia, que vivia no seu subconsciente, e a fazia sofrer, acusando-a e repreendendo-a, fazendo com que se recordasse de que a abandonara. Para afastar este fantasma, faria qualquer coisa.
A aceitação, a tranquilidade forçada dos anos anteriores a seu casamento com Francis tinham-na abandonado. O casamento destruíra qualquer serenidade na qual ela pudesse continuar vivendo. Voltara à época imediatamente após a morte de Jeremy. De muitos modos, retrocedera até os anos terríveis em que trabalhara para a Sra. Eccles, anos parados e sem esperança, anos sem luz e sem significado. Tornara-se verdadeiramente apática.
Quando se aproximou de Ellen, através da grama do jardim, Maude Godfrey percebeu-lhe o sofrimento, o corpo largado na cadeira de vime, o olhar vazio que fixou na visitante. Maude obrigou-se a sorrir.
— Boa tarde, Ellen — disse, com um tom artificialmente vivo. — Fui visitar os Freeman, na aldeia, e pensei em vir até aqui, para vê-la. Como vai passando?
Somente dali a vários minutos foi que Ellen percebeu realmente a presença de Maude. Depois sorriu vagamente, mas seus olhos se tornaram cautelosos, com a antiga desconfiança. Levantou-se com os movimentos de uma velha e estendeu a mão. Maude tomou-a; o aperto foi flácido.
— Que bom — disse Ellen.— Não está mesmo um dia bonito? Já tomou chá?
— Não; mas não tem importância.
— Margie logo virá trazê-lo, Maude. Sente-se. Como vai
Charles?
— Ocupado, como sempre. Que lugar bonito, este aqui! Charles prometeu procurar uma casa em East Hampton neste verão... se tiver tempo. Saímos muito pouco da cidade. Como vão Christian e Gabrielle?
— Christian está em Boston, em casa de uns amigos, e Gabrielle em Vermont, também em casa de amigos. Vejo-os muito pouco, ultimamente. — Por um momento o rosto de Ellen teve uma expressão de dor.
— Pois bem, são moços, você sabe. Preferem a companhia de seus pares, conforme eles se exprimem hoje em dia. Muito irrequietos, mas os tempos mudaram. O lar não é mais a maior atração. Nossa filha também foi passar duas semanas fora, em Plymouth, em casa de uma amiga.
Mas Ellen estava pensando em outra coisa.
— Francis quer que venda esta casa. Diz que é uma despesa inútil. Talvez seja. Não sei.
— Jeremy gostava dela — disse Maude, observando-a atentamente.
Ellen olhou para suas mãos cruzadas no colo e disse:
— Sim, gostava, e eu também gosto. Mas sinto-me culpada... gastando dinheiro na época de hoje...
— Que há de errado na “época de hoje”?
— É preciso muito dinheiro para causas sociais — disse Ellen, com voz morta. — Não devemos ser egoístas. Temos que lutar contra a injustiça.
Maude examinou-a em silêncio, ouvindo o eco da voz pedante e reprovadora de Francis, ele, que não gastava nada do seu dinheiro em “causas sociais”, mas que usava o de Ellen generosamente.
Maude ficou imaginando se Ellen saberia o que estava dizendo, e achou que não. Ficou refletindo. Estava sentada numa cadeira de vime, o corpo esbelto como o de uma mocinha. Trajava um vestido de linho bege, com rendas de seda. O chapéu de palha cobria parcialmente os cabelos pretos e macios, que ela ainda usava à moda antiga, com um coque na nuca. O rosto de feições delicadas não havia sido maltratado pelo tempo. A serenidade e compostura (que tanto haviam desconcertado Ellen) tinham aumentado, de modo que, apesar de sua aparência frágil, Maude dava impressão de ser invulnerável. Era essa invulnerabilidade que intimidava Ellen. Maude disse, então:
— Muitas vezes penso no que um grande santo da Igreja disse, ou escreveu, em 1654. Baltasar Gracián, um jesuíta espanhol.
Ellen virou-se para ela e pela primeira vez seu rosto adquiriu um pouco de expressão. Maude continuou:
— “A lei do instinto de conservação não é sofrer a vida inteira para poder ajudar os outros. Nunca peque contra sua própria felicidade para confortar alguém. Sim, pois em todas as situações que significam alegria para um outro e sofrimento para você, o certo é isto: É melhor que o seu amigo fique triste hoje, do que você, amanhã, e desamparado, ainda por cima.”
— Isso me parece grande egoísmo — murmurou Ellen. Mas seus olhos adquiriram uma expressão mais viva.
— Creio que Jeremy concordaria com Baltasar Gracián, pelo seu bom senso. Se uma ação causar conforto e alegria tanto a quem dá como a quem recebe, então está certo. Mas, se for apenas uma troca de infelicidade, está errada. Um homem deve primeiro cuidar de si mesmo; é essa a lei da natureza. Precisa proteger-se, sempre. Se não o fizer, é um tolo. — Ao dizer a última frase, Maude elevou um pouco a voz.
— Então você não acredita em auto-sacrifício, como Francis acredita?
Maude engoliu um som irônico.
— Se o auto-sacrifício causar dor e sofrimento para o sacrificado, então é estupidez. Isso só deveria ser feito se causasse prazer. O altruísmo não é apenas uma espécie de masoquismo, é frequentemente um disfarce para o auto-interesse, ou coisa pior. Ellen, os judeus antigamente tinham uma lei que dizia que um homem deve primeiro servir ao seu Deus e à sua pátria. Depois, prover o presente e o futuro de toda a sua família, o que incluía seus pais e outros parentes, além da mulher e dos filhos. Somente depois que tivesse cuidado da segurança desses é que era obrigado a dar aos outros. Era uma lei muito sensata. Quando um homem não cuida primeiro dos seus, protegendo-os ao máximo, só para “partilhar” com outros, comete um crime contra a comunidade. Ele permite que aqueles que ele deveria proteger se tornem um fardo para a sociedade, o que é um descuido imperdoável, uma ofensa contra os outros homens, por mais “nobre” que seu comportamento pareça. Mas, Ellen, não vim aqui para fazer um discurso... — terminou Maude, vendo que o rosto de Ellen estava vermelho.
— Jeremy cuidou bem de sua família — disse Ellen, num tom agora mais animado. — Por isso, sobra dinheiro... para os outros.
Maude encolheu os ombros.
— Não estou falando de dinheiro, Ellen. — Estou falando de emoção, de integridade íntima e de bom senso. A vida não foi realmente, em todas as ocasiões, feita para que o homem sofresse. Acredito que Deus, conforme diz a Bíblia, criou este jardim verde, que é o mundo, para nosso prazer e que ele está cheio de “coisas boas” para darem felicidade à humanidade. A felicidade, naturalmente, não é uma coisa permanente, mas deveria ser aceita quando surge e não rejeitada em nome de uma coisa ou outra... Sacrifício, por exemplo.
— Quando estou na cidade, trabalho para muitas causas pelas quais Francis se interessa — disse Ellen. — Isso me ocupa. Trabalho para a Hopewell House...
“Aquele centro de radicalismo”, pensou Maude.
— Ali ensinam os jovens, através de palestras, a trabalhar para a justiça social, ensinam a consciência social, Maude. Eu-gene Debs está sempre fazendo palestras lá.
— Sei disso — respondeu Maude, calmamente. — Ele não foi preso, uma vez, acusado de conspirar para matar? Sim, foi. E não infringiu a Lei contra a Espionagem? Sim. Ele foi também um candidato socialista à presidência, várias vezes, não foi? Você sabe o que é socialismo, Ellen?
— Pois bem, não exatamente. Creio que tem qualquer relação com salários justos e igualdade...
Maude sorriu.
— Já foi dito que o comunismo é apenas um socialismo apressado. Você sabe o que está acontecendo na Rússia, Ellen, sob um sistema que eles chamam de socialismo? Você não lê os jornais?
Ellen pareceu constrangida.
— Francis diz que os jornais mentem. Como é que podem saber alguma coisa sobre a Rússia, quando nossas relações diplomáticas com ela foram rompidas? Então, os jornais usam a imaginação... é o que diz Francis.
— Usam também os relatórios de dezenas de milhares de refugiados que tiveram a sorte de escapar dos assassinos.
— Os aristocratas — disse Ellen, maquirialmente. De novo Maude ouviu a voz de Francis. — E a burguesia.
“Oh, Deus”, pensou Maude. “Quanto sofrimento neste mundo foi causado por despeito e inveja!”
Uma empregada apareceu com uma bandeja. Ellen serviu o chá. Suas mãos, agora muito frágeis, tremiam um pouco.
Satisfeita por ter tirado Ellen de sua apatia, embora a tivesse talvez aborrecido, Maude observou:
— O Presidente Wilson disse, após seu primeiro colapso: “Teria sido melhor se eu tivesse morrido”. Que é que você acha que ele queria dizer com isso, Ellen?
— Não sei. Você sabe, Maude?
— Creio que sim. Ele causou um desastre à América, fazendo-a entrar na guerra. Era um socialista, você sabe, ou talvez pior.
Mas Ellen estava agora distraída. Parecia exausta.
— Sinto muito não poder oferecer-lhe vinho, xerez ou conhaque, Maude. Francis é abstêmio, sabe? Detesta qualquer tipo de álcool. Trabalha a favor da Lei Seca.
— Sei disso. Trabalhou também para o direito de voto das mulheres.
— Ele diz que as mulheres evitarão guerras futuras...
— Mas ele não foi fervorosamente a favor desta, Ellen? É o que me parece.
— Esta guerra foi... diferente... das outras. Foi uma guerra contra a tirania e a favor da autodeterminação das nações pequenas e... da democracia.
— Nenhuma guerra é diferente das outras. Todas provocam calamidades... e são sinistras, Ellen. Não trazem vantagens para ninguém... com poucas exceções. Conforme disse Benjamin Franklin, a guerra nunca deixa um país como o encontrou. Pois bem, não importa. Quando é que você pretende voltar para a cidade?
— Antes do Dia do Trabalho — respondeu Ellen, com um suspiro. — Gostaria que Francis não implicasse tanto com esta casa e não insistisse para que eu a venda. Nem mesmo as crianças gostam dela. Passam dois meses comigo, em julho, mas percebo que ficam irrequietas e entediadas. Somente eu... e Jeremy... gostamos dela. — Maude notou que Ellen usara o verbo no presente e sentiu uma grande compaixão.
— Então você deve conservá-la, Ellen, se isso lhe dá paz.
Levou um susto, pois Ellen de repente ergueu a cabeça, com expressão tensa e angustiada na fisionomia, batendo com o punho na mesa de vime.
— Nada jamais me dará paz! Nada, nada. Quero meu marido! Quero Jeremy!
Maude ficou alarmada ao ver Ellen empurrar a cadeira para trás, tropeçar e sair correndo, cambaleante, em direção à casa, com os braços abertos para equilibrar-se, os cabelos esvoaçando ao vento.
Naquela noite, Maude disse ao marido, com tristeza:*
— Talvez eu não devesse tê-la despertado. O que eu disse fez com que ela se lembrasse de Jeremy.
— Tanto melhor, querida. A lembrança de Jeremy é um parachoque entre a pobre coitada e as invectivas e maquinações suspeitas de Francis. Por falar nisso, dizem que ele é um comunista secreto.
— Não duvido.
— Apesar disso, não devemos ficar histéricos. Milhões de pessoas que têm uma leve inclinação pelo que ouviram do comunismo são completamente inocentes de ideias subversivas e não sabem o que ele significa. Muitas são apenas idealistas, ignorantes e ingênuas. Não desejamos um castigo por atacado, não é? Precisamos apenar educar o povo americano.
— Mas Francis sabe — disse Maude. — Sim, ele sabe.
Capítulo 34
Embora fosse indolente e avarento, não sendo um estudante brilhante, Christian Porter compreendia, mais do que o próprio Francis, o que este propunha dogmaticamente. Christian tinha poucos impulsos neuróticos, se é que os tinha, mas possuía uma mente discriminadora e realista, apanhando todas as nuanças do que Francis lhe ensinara. Compreendia que o padrasto era impelido pelo ódio e pela inveja e que, no subconsciente, conhecia a própria fraqueza e sua falta de habilidade. Sabia também que, como todos os homens fracos, Francis ambicionava o poder, a fim de vingar-se de um mundo que reconhecia sua inferioridade e se recusava a fingir acreditar que ele era superior aos outros homens e a dar-lhe as recompensas que ele julgava merecer. Quando Francis falava com veemência sobre o “oprimido homem comum”, Christian não se iludia. Rindo intimamente, dizia a si mesmo que, se alguém realmente detestava o “homem comum”, este alguém era Francis Porter.
Não foi nada de extraordinário Christian ter adivinhado que Francis era o arquétipo do socialista, do reformador apaixonado. Não levou muito tempo para descobrir que os socialistas não vinham das classes trabalhadoras, que eles defendiam tão veementemente, e sim da classe média alta, e que os exploradores muito ricos usavam-nos habilmente, em seu próprio benefício. Christian viu que o capitalismo nada tinha contra o comunismo; praticavam a simbiose com perfeição. Por alguns minutos, admirou-se de Francis não compreender isso. Francis acreditava sinceramente que os capitalistas muito ricos, que simpatizavam com o socialismo, assim como os “trabalhadores”, eram homens de grande coração e humanitarismo. Enaltecia as enormes “fundações” criadas por esses homens e falava deles com um respeito quase religioso, com voz fervorosa. Ao ouvi-lo, Christian erguia as sobrancelhas e ria intimamente, com desprezo e malícia.
Tendo fortuna própria, Christian queria ser ainda mais rico, embora não desejasse trabalhar para isso. Era hedonista, gostava de satisfazer suas vontades e muito ganancioso. Pensou em entrar para a política, pois tinha personalidade e era bonito. Mas a política exigia certo esforço; o progresso frequentemente era lento e não oferecia um lucro imediato. Admirando-se a si mesmo, Christian não precisava de adulação. Mas queria fortuna e poder e, ao contrário de Francis, sabia por que desejava isso. Não queria impressionar. Queria, simplesmente, dominar e, dominando, tornar-se muito mais rico. Pensara em estudar direito, mas isso exigia aplicação e anos monótonos. Assim, refletiu durante algum tempo e finalmente chegou a uma excelente conclusão: pediria a Francis que usasse sua influência para arranjar para ele um cargo importante numa de suas “instituições de caridade”. Deste modo, ele se tornaria famoso por seu humanitarismo, companheiro dos homens mais poderosos e mais sinistros dos Estados Unidos, podendo servir-se das conspirações políticas para se promover. Com desusada concentração, Christian leu tudo o que pôde sobre Lênin, Trótski, Marx e Engels, sobre o fabianismo, o populismo e assuntos semelhantes. Ouvia os amigos de Francis com grande interesse. Embora tivesse apenas vinte e três anos, imediatamente atraíra a atenção desses homens que reconheciam, em Christian, um deles.
Assim, quando Francis procurou o chefe de uma das maiores “instituições de caridade” em Nova York, foi muito bem recebido. Não mencionou que Christian acabara de formar-se pelo City College, embora eles soubessem perfeitamente disso. Não estavam interessados em intelectualidade, exceto quando podiam usá-la, como faziam com Francis Porter. Só se importavam com homens do tipo deles mesmos, e Christian o era, totalmente sem consciência, cruel, exigente, inteligente, impiedoso, completamente ciente das coisas, sem nenhuma das ilusões que Francis possuía, sem hipocrisias inocentes. Christian seria um neófito no meio deles; mais tarde eles saberiam industriá-lo. Sua aparência atraente, sua força mental e física, sua total ausência de princípios, sua inerente boa vontade em cometer qualquer atrocidade que lhe pedissem, tudo foi medido e aprovado. Pediram-lhe apenas uma coisa: dedicação às ambições deles. Imediatamente perceberam que tinham um ótimo recruta.
Desse modo, Christian tornou-se, no outono de 1926, “secretário-correspondente” da Fundação David Rogers, com sede em Nova York, mas com filiais internacionais, todas elas secretas e perigosas, controladas por alguns dos homens mais astutos, mais cruéis e mais sofisticados do mundo. A maioria era composta de financistas e de banqueiros. Mas muitos eram industriais de enorme fama e fortuna, armadores, magnatas. Apesar da atitude do governo de Washington em relação à Rússia (e sentindo desprezo por tal atitude) eles a ajudavam secretamente, no comércio, na indústria, na tecnologia, com grandes somas de dinheiro a juros baixos. Lênin escreveu sobre esses homens: “Eu, portanto, peço a todos os representantes do Departamento de Comércio Estrangeiro, à administração das estradas de ferro e a todos os membros do governo soviético na Rússia que deem a esses cavalheiros não somente toda a atenção, como também toda a assistência possível, desprezando todas as formalidades”.
A Fundação David Rogers, ostensivamente destinada a ajudar várias obras de caridade suas e de outras organizações, era uma das fundações mais importantes, mais influentes e mais conceituadas do país. Tinha também uma escola “superior” em Nova York, uma em San Francisco, uma em Filadélfia e outras em Boston e Chicago. A escola era chamada “Escola de Estudos Democráticos”. Ali os rapazes e algumas moças eram sutilmente industriados em subversão, traição, criptocomunismo, desejo de poder pessoal e de “serviço público”, sem falar em aversão pelas instituições verdadeiramente democráticas e pelo governo estabelecido. A escola dava bolsas de estudos para estudantes selecionados, que eram mandados para o exterior para “estudar”. Construía bibliotecas para as quais os livros eram cuidadosamente escolhidos. Comprava editoras que só publicavam livros de escritores radicais. Comprava jornais e revistas. Era muito prudente, agindo em silêncio e implacavelmente. Subornava políticos, que eram então elogiados por seus “ideais humanitários”, antes de serem eleitos para inúmeros cargos. Não tinha nenhum partido favorito, quer fosse o Republicano ou o Democrático. Sua preferência era para homens que obedeciam a ordens.
A organização tinha dois grandes inimigos: o novo presidente dos Estados Unidos, Calvin Coolidge, e Alfred Smith. Mas, embora fossem inimigos formidáveis, a Fundação David Rogers e suas irmãs não tinham dúvidas de que esses dois cavalheiros poderiam ser anulados de um jeito ou de outro. As fundações começaram a planejar isso cedo, para as eleições de 1928. Após muitas conferências nacionais e internacionais, ficou decidido pelos conspiradores que a moeda da América — assim como a da Alemanha — deveria ser desvalorizada para causar uma grande depressão, um caos total nos Estados Unidos, assim como na Alemanha. Nisso foram auxiliados por seu servo, o Sistema de Reserva Federal, que controlava os bancos. A melhor maneira de desmoralizar o dinheiro americano era eliminar a reserva-ouro e introduzir o papel-moeda. Assim haveria o colapso da economia americana. Os conspiradores intensificaram suas atividades. Depois que a economia ruísse, eles introduziriam inúmeras “reformas” que levariam os Estados Unidos ao comunismo franco, ou dissimulado. Procuraram um político que servisse a seus planos nos anos seguintes. Observaram a Alemanha e procuraram “o homem”, por intermédio de seus coconspiradores alemães.
O fato de a América ser essencialmente anticomunista não os perturbava muito. Através de suas várias organizações, eles promoveram greves desastrosas e outros levantes públicos. Para isso se serviam de homens como Francis Porter — “advogados trabalhistas”, “inocentes” fervorosos e perigosos. Empregavam agentes provocadores, habilmente educados e dirigidos. Esses agentes não eram inocentes, mas cuidadosamente treinados: homens de educação, tortuosos e inteligentes, homens eloquentes e de fibra, homens sem nervos e sem escrúpulos.
A Fundação David Rogers fora criada pela Rogers Brothers Steel Company, que tivera origem em Pittsburgh, agora dona de inúmeras firmas subsidiárias. Possuía também várias pequenas companhias de petróleo, e era fabricante de aço e de alumínio, possuindo ainda minas de carvão e companhias de eletricidade. No passado, tinha sido investigada por Washington, por violações óbvias do Ato Antitruste, mas saíra ilesa. Trabalhara bem e com entusiasmo para a entrada da América na Grande Guerra, e fora elogiada por políticos de considerável influência. Recentemente comprara uma estação de rádio em Nova York, e uma de suas firmas estava fabricando rádios, preparando-se para fazer instrumentos mais eficazes. Estava também, secretamente, comprando ações de uísque, a termo, com a firme convicção de que a Lei Seca seria revogada. Essas ações eram das mais cotadas na Wall Street. David Rogers, de quem a fundação recebera o nome, fora um vigarista antes da guerra entre os Estados, operando diligentemente e com lucro em várias cidades do norte. Fora também dono de vários bordéis de Pittsburgh. Frugal e astucioso, mais tarde comprara uma fábrica de aço falida e conseguira fazer uma grande fortuna. Seu retrato, piedosamente retocado de maneira a fazer com que ele parecesse um bispo, estava dependurado no escritório principal, em Pittsburgh.
Além de apresentar Christian à Fundação David Rogers, Francis também o apresentou à Sociedade Scardo e ao Comitê para Estudos Estrangeiros. Os dirigentes se mostraram cautelosos com Francis, em quem não confiavam muito por ser um histérico que acreditava em suas polêmicas, mas ficaram muito impressionados com Christian, logo o reconhecendo como um deles. Amavelmente permitiram que Francis levasse o rapaz a algumas reuniões e discussões periféricas, que ele não compreendia muito bem. Mas os cavalheiros da fundação perceberam, satisfeitos, que Christian compreendera imediatamente, embora ainda fosse muito jovem.
Por ocasião de uma das discussões, Francis se queixou veementemente de que, embora o país estivesse num estado de aparente prosperidade, o trabalhador comum e o fazendeiro mal podiam subsistir. Confessou sua perplexidade. Na Wall Street se faziam grandes negócios; os empréstimos dos corretores chegaram a quatro milhões e quatrocentos e vinte e dois mil dólares. Uma atmosfera de euforia reinava no país. As lojas estavam repletas de fregueses, as ruas cheias de carros, as fábricas trabalhavam noite e dia. Apesar disso, os salários dos trabalhadores continuavam muito baixos e os fazendeiros iam à falência. O Presidente Coolidge disse, com grande displicência: “Pois bem, os fazendeiros jamais ganharam muito dinheiro, em qualquer época”. Era difícil a Francis conciliar a óbvia prosperidade de alguns com a pobreza da vida dos fazendeiros e dos trabalhadores.
Mas Christian compreendeu imediatamente. Os irmãos gêmeos, o capitalismo exuberante e o comunismo, estavam trabalhando para um único fim, e ele sabia qual era. Achava divertido perceber que Francis de nada desconfiava. Quando Francis lhe contou que se filiara ao Partido Comunista, pouco conceituado na América, para que houvesse (na opinião dele) “justiça para os trabalhadores”, Christian mal pôde conter o riso. Francis insistiu para que o rapaz fizesse o mesmo. Christian teve uma expressão grave:
— Seria muito perigoso para mim, embora eu seja simpatizante. Trabalho para a fundação, você sabe, e a fundação é ostensivamente anticomunista.
— Compreendo o seu ponto de vista — disse Francis, embora não compreendesse nada.
Nesse meio tempo, os empréstimos dos corretores subiram tanto que excederam o total do dinheiro em circulação nos Estados Unidos. Os poucos congressistas e senadores que expressaram seu alarma foram alvo de zombaria e calaram-se. A América atingira o auge da prosperidade. Quando Alfred E. Smith, governador do Estado de Nova York, chamado o “Guerreiro Feliz”, também demonstrou alarma, seu nome discretamente deixou de ser considerado pelo Comitê para Estudos Estrangeiros. Ele também aborrecera o comitê com suas autênticas reformas sociais, melhorias na educação e tentativa de conservar os recursos naturais. “Mas também somos a favor disso”, disse Francis a seus amigos, que se entreolharam com ar divertido.
Christian, entretanto, percebia que as sólidas reformas de Smith não eram absolutamente do agrado do comitê. Não estava nos planos daqueles homens melhorar a sociedade e sim destruí-la. Christian compreendia. Cada vez desprezava mais Francis, que agora lhe parecia insuportavelmente ingênuo.
Crime, hedonismo, irresponsabilidade, um crescente desrespeito à lei eram um fenômeno para Francis, um motivo de perplexidade. Mas não para Christian. Quando uma nação se degenerava moralmente, tornava-se fraca e dividida, incapaz de resistência. Os homens sinistros começaram a atacar Alfred E. Smith, que constantemente denunciava essa repentina mudança dos costumes americanos nos anos 20. Embora ele manifestasse francamente seu desejo de vir a ser presidente, ambição aprovada pelo Partido Democrático, nas sessões secretas ficara claro que ele destruíra suas chances. Smith não se submeteria aos inimigos do país. Era preciso que se escolhesse um homem inócuo, um homem de conhecida retidão, mas que aceitasse as sugestões discretas feitas pelos “cavalheiros preocupados”, sem que tivesse a mínima suspeita dos verdadeiros motivos de seus apoiadores.
Tendo voltado para casa para as férias de verão, Gabrielle conseguiu o apoio de Kitty Wilder contra Ellen.
— Não quero continuar no colégio — disse Gabrielle. — Estou com vinte anos e sou tratada como uma criança. Quero fazer alguma coisa excitante na vida.
— Como por exemplo? — perguntou Kitty.
Gabrielle sorriu.
— Divertir-me. Debutei há dois anos, mas mamãe ainda me considera uma colegial. Christian tem seu próprio apartamento e quero ter o meu. Falei com mamãe sobre isso e ela ficou horrorizada. Ora, quando ela tinha a minha idade, já estava casada, com um filho de dois anos. Mamãe trabalhou desde os treze anos! Sou sem dúvida mais amadurecida do que ela jamais o foi, apesar de ela ter ganho a vida desde menina. Os tempos mudaram, tia Kitty. Agora somos sofisticados, compreendemos a vida e sabemos viver... como mamãe jamais soube. E ainda não sabe. Está com quarenta anos, pelo amor de Deus! É uma velha.
Kitty sorriu afetuosamente, embora se contraísse no íntimo e ficasse aborrecida com aquele comentário. Já estava com mais de cinquenta anos, seu rosto moreno estava emurchecido embora o brilho dos dentes brancos e grandes ainda fosse constante. Como sempre, era elegante e cuidada. A nova moda de seios chatos e saias curtas a favorecia, o que não acontecia com Ellen, com seu busto grande. Os cabelos tintos de Kitty eram curtos e crespos. Ela conhecia todas as canções novas, os escândalos e as depravações internacionais. Era capaz de dançar como uma “garota”. Sua vivacidade talvez fosse mais febril e mais forçada do que na mocidade, mas ainda era grande. Olhou para Gabrielle e invejou-a. Gabrielle era jovem e vibrante, tinha um corpo de “rapazinho”, sua animação era natural. O rosto moreno era petulante, cheio de vitalidade, os olhos negros eram brilhantes. Os cabelos eram bem curtinhos e encaracolados.
Naquele dia ela estava com um vestido vermelho de seda, com cinto prateado nos quadris estreitos. Usava sandálias vermelhas. O vestido era curto e mostrava as meias de seda, enroladas e deixando à mostra os joelhos bonitos, Os lábios eram polpudos e rubros.
— Sua mãe não é nenhuma anciã — disse Kitty.
— Pois bem, ela parece uma anciã e age como tal. Olhe só para os cabelos dela, caindo até a cintura. Olhe para as saias: descem abaixo dos joelhos. Quanto aos seios... Como os de uma vaca! Ultimamente engordou muito, também. Porque é muito preguiçosa; quase nunca sai de casa, não vai a parte alguma, exceto para a Europa, uma vez por ano, e depois, no verão, para aquela horrível casa de Long Island. É praticamente uma enclausurada. Preguiçosa. Nada a interessa, a não ser se meter em minha vida. E a nossa casa é velha e horrível, tão maltratada e em que vizinhança! Mamãe não percebeu que o bairro decaiu. Tenho tentado fazer com que compre uma casa bonita na parte alta da Fifth Avenue. Cheguei mesmo a levá-la até lá; a casa pertence à família de uma amiga minha. Um encanto e custa apenas duzentos mil dólares. Mamãe se tornou avarenta, também. A culpa é de tio Charles, sempre falando em “conservar os bens” e em ações. A verdade é que ele também é velho. Já é tempo de a nova geração tomar conta. Mamãe viveu a vida dela; quero viver a minha.
— Concordo com você — disse Kitty, com um suspiro. — Que é que Francis diz a esse respeito?
— Oh, Francis! Tão modesto. Só sabe falar sobre a “consciência social”. E é avarento, como mamãe. Gasta o dinheiro dela, mas guarda o dele. Mas concorda comigo; acha que a casa de Long Island deveria ser vendida. Ele concorda comigo e com Christian em muitas coisas e compreende-nos. Inúmeras vezes diz: “A mocidade precisa ser servida”, mas tenho a impressão de que ele se refere à mocidade das fábricas, malvestida. Às vezes me diz que sou extravagante. Já lhe contei, tia Kitty, que ele quer que eu trabalhe como voluntária naquela sua horrível associação de caridade, a Hopewell House? Cheia daquilo que ele chama de “trabalhadores e imigrantes oprimidos”!
Naquele quente dia de julho, as duas estavam sentadas na sala de visitas de Kitty, bem mobiliada e fresca, tomando uísque contrabandeado, e ginger ale com gelo. Alguns ventiladores zumbiam perto delas. Gabrielle olhou à volta, irrequieta.
— Sua casa também é de arenito marrom, tia Kitty, mas num bairro melhor. E você está sempre mudando a decoração. Mamãe não muda nada. Todo aquele horrível damasco nas paredes, a escuridão, e silêncio. Mamãe nunca mais toca piano, embora eu ache isso uma bênção, considerando-se o seu gosto em matéria de música. Raramente recebemos visitas, e ninguém vem jantar conosco. Mamãe parece fechada em si mesma.
Kitty admirou-se da perspicácia da moça.
— Pois bem, Ellen sempre foi assim, mesmo no tempo de seu pai, que ela adorava, Gabrielle. Acho que nunca se conformou com a morte dele; seu casamento com Francis parece que a tornou ainda mais... isolada.
Observando Kitty atentamente, Gabrielle replicou:
— Acho que mamãe está mentalmente doente. Creio que precisa de um psiquiatra. Alguém que trate dela.
Kitty compreendeu imediatamente. Umedeceu os lábios pintados e olhou para Gabrielle com ar pensativo.
— Você falou a Francis sobre isso?
De novo Gabrielle encolheu os ombros.
— De certo modo, ele é tão ruim quanto mamãe. Às vezes enche a casa de uma gente horrível, todos tagarelando excitadamente, homens impossíveis sob o ponto de vista social, mal vestidos e cheirando mal. Chamo-os de “brigada de roupa de baixo suja”. De vez em quando tio Francis quer que me junte a eles. Eu, nunca! Diz que são pessoas “preocupadas”, isto é, preocupadas com o progresso social e com reformas. Quanto a mim, acho que são um bando de comunistas.
— Oh, cuidado — replicou Kitty, rindo. — Você poderia ser processada por difamação, Gaby.
Gabrielle também riu.
— Quando eles estão lá, às vezes apareço em nossa sala que cheira a mofo. Mostro-me muito séria, inclino a cabeça e concordo com tudo. Eles não parecem importar-se de eu estar bem vestida, perfumada e com joias. Gostam de dinheiro herdado, mas odeiam as pessoas que ganham a vida. Eu também, para falar a verdade. Novos-ricos. Concordo com Francis, que os novos-ricos deveriam pagar impostos altos, mas aqueles que herdaram sua fortuna, não. Patrícios. Precisamos abafar os novos-ricos e obrigá-los a partilhar seu dinheiro com os que Francis chama de “oprimidos”. Não queremos saber de desafios à nossa posição estabelecida, não é?
— Não; de fato — disse Kitty.
— Francis acha que a classe média deveria pagar impostos altos e ser forçada a “partilhar”, conforme diz ele. Chama a isso “igualdade”. Claro que isso não me afetaria. Conheço algumas moças, no colégio, cujos pais são “homens que se fizeram por si mesmos”, que trabalharam para subir na vida, que se sacrificaram, estudaram e fizeram todas essas coisas aborrecidas e acabaram ficando ricos. Acho que deveriam pagar impostos tão altos até ficarem arruinados. Novos-ricos. As moças são tão sérias, também! Uma delas chegou a dizer: “Trabalhar é rezar”. Burguesia! Que é que poderia ser mais enfadonho e sem graça?
— Nada — respondeu Kitty.
— O pai de uma das moças era um imigrante judeu, russo, que se meteu no negócio de roupas naquele bairro horrível... você sabe. Trabalhou noite e dia e ficou rico. Depois chamou seus parentes, para livrá-los dos comunistas russos, pelo que me disse Esther. Ela é muito cacete. Fala de política e de outras coisas vulgares. Escreveu alguns artigos para o jornal do colégio... todos muito pesados, falando de Deus, do dever, dos dez mandamentos e dos perigos do socialismo. Todas rimos dela. Seu pai ignorante deveria pagar impostos bem altos e talvez Esther ficasse calada. Concordo com Francis, quando ele cita Karl Marx, sobre a classe média ser taxada.
“Você é uma cadela”, pensou Kitty, sorrindo afetuosamente para sua jovem visitante. “Esquece-se do que sua mãe é, e era.” Olhou para Gabrielle com sua expressão inquieta e licenciosa e perguntou:
— Você falou com Francis sobre um psiquiatra para sua mãe?
— Falei. Creio que concorda. Ele e mamãe raramente trocam uma palavra, e Francis parece infeliz. Ouvi falar de um psiquiatra, o Dr. Emil Lubish. A filha dele é minha colega; apresentou-me ao pai. É um homem maravilhoso, embora tenha o hábito de pegar na frente e de me chamar de “Liebchen”. É austríaco e foi aluno de Freud. Certa vez, falei-lhe sobre mamãe e ele me disse, gravemente, que ela precisa de “ajuda”. Contei isso a Francis e creio que ele também concorda comigo, embora mamãe nunca brigue com ele e faça tudo o que ele sugere. Pois bem, quase tudo. Ela pode ser muito teimosa e taciturna e o Dr. Lubish chama isso de “síndrome”. De quê, não sei.
Houve um silêncio, enquanto Kitty refletia. Depois, ela disse:
— Pois bem, você queria que eu a ajudasse, querida. De que modo?
— Francamente, quero que me ajude a convencer mamãe a me deixar ter o meu próprio apartamento. Agora. Oh, posso esperar até o ano que vem, quando fizer vinte e um anos. Você sabe que sou rica, tia Kitty, mas não posso tocar na herança até o próximo ano e, mesmo então tio Charles estará me vigiando e repreendendo. Ele tem ideias muito estreitas. Quero também ter o meu próprio carro. Um Cadillac. Todas as moças possuem o seu carro, mas eu tenho que tomar um táxi ou o metrô! É humilhante. E minha mesada? Uma ninharia.
Elas se serviram de outros drinques. Kitty disse:
— Sua mãe e Francis devem conhecer sua posição, Gaby. Não? Pois bem, se quiser, posso falar com Ellen. Mas você sabe como ela é teimosa. Em todo caso, sou e sempre fui sua melhor amiga. Leal. Dedicada. Sua única amiga.
Francis Porter disse a Ellen, com ar de tristeza e de censura:
— Você sabe que é ilegal, Ellen. Onde é que arranja essa bebida? Esse veneno contrabandeado?
— Preciso disso, Francis. Isso... me acalma. Tenho um contrabandista muito bom. Esse uísque é legítimo, importado.
— Por que é que você precisa... acalmar-se, Ellen?
Ela ficou em silêncio, de testa franzida, refletindo. Como poderia explicar-lhe o horror negro de sua vida, seu sofrimento, suas recordações? Francis não tinha um ponto de referência para poder compreendê-la. Ellen não se importava que ele compreendesse ou não; queria apenas ficar livre de censuras. Quando o marido a admoestava, a sensação de culpa quase a arrasava, embora não soubesse, tampouco, qual a razão desse sentimento. Sabia apenas que precisava de um analgésico. Era bem pouco para afastar os sonhos constantes de sua mocidade horrível, o sofrimento, a fome, a desesperança. Era bem pouco para trazer as lembranças de Jeremy, com quem conversava e ria em seu sono embotado. Sem essas recordações do marido, ela certamente morreria.
— Preciso viver — murmurou. — Preciso viver por causa de meus filhos.
Francis olhou-a, sentindo-se infeliz. Ellen ficara gorda e disforme. Seu rosto estava inchado, o colorido desaparecera de uma vez. Vivia largada. Somente seus cabelos tinham vida, embora estivessem sempre em desalinho. Quase não comia... mas continuava gorda.
— Tenho feito tanto por Christian — disse Francis, vibrando de ansiedade. — Você não é agradecida, Ellen.
Ela tomou um gole do líquido cor de âmbar.
— Sou-lhe grata, Francis. Não lhe posso dizer quanto. Mas... preciso ter paz. Você não compreende. Preciso...
— Fugir?
Ellen não respondeu. Fugir? Sim. Fugir de um mundo que não se importava com o desespero, mas que o explorava. Fugir do conhecimento, fugir de pessoas que não tinham integridade, nem decência, nem honra, nem amor. Que fora que Jeremy dissera? “O cheiro doce do dinheiro.” Era um eflúvio mortal. Não. Era o mau cheiro da loucura. O sonho insidioso quebrara suas defesas e ela procurava esquecê-lo.
— Eu apenas queria viver — disse Ellen. — Mas isso me foi negado, até eu conhecer Jeremy. Depois ele morreu. Agora não posso viver.
— Você está delirando. Está bêbada, Ellen.
— In vino veritas, Francis. — Fitou-o com olhar turvo e continuou: — Lembro-me de uma coisa que Jeremy disse, certa vez: “Réquiem para os inocentes”. Ele referia-se à América, Francis. Mas muitas vezes acho que se referia a pessoas como eu, também.
Francis ficou exasperado.
— Ellen! Você nunca amou ninguém, nem confiou em ninguém em toda a sua vida! Abandonou sua tia e deixou que morresse sozinha. Nunca ligou para seus filhos. Sou seu marido, mas você não se interessa por mim. Tia Hortense fez tudo por você e veja como você lhe retribuiu! Os Porter... foram bons para você e você os traiu e separou-os do filho deles. Você não procura compreender seus próprios filhos, as necessidades e os desejos deles. Deixou-os por minha conta. Ellen, você está precisando de um psiquiatra, para que a esclareça e faça com que perceba como é egoísta. É esse o seu mal.
Ellen tomou um gole grande de bebida. Desatou a chorar. Soluçou, angustiada, durante muito tempo. Francis deixou-a, sentindo repulsa. Ela adormeceu na poltrona da biblioteca. Seu último pensamento coerente foi: “Que é que o mundo exige de pessoas como eu? E como Jeremy? Corrupção? Maldade? Traição? Não; nunca terão isso de nós, nem mesmo se viermos a morrer lutando”.
“Preciso chamar o Dr. Lubish para ela”, pensou Francis. “Gabrielle tem razão. Ellen está mentalmente doente. É possível que tenha sempre estado.”
Naquela noite, Ellen sonhou com a Sra. Schwartz. Estavam no jardim ressequido da casa de Preston. A velha estava chorando. Estendeu a mão para Ellen e gaguejou: “Bela filha de Toscar”. Ellen procurou a mão estendida, mas a Sra. Schwartz retirou-a, como que aterrorizada.
Terceira parte
Capítulo 35
Francis Porter estava sentado no consultório do Dr. Emil Lubish, num dia frio de janeiro de 1928. Ali tudo era marrom, dourado, com cortinas de seda de um dourado pálido. A sala era quente, silenciosa, embora houvesse o ruído do trânsito lá fora, na Fifth Avenue. Caía uma neve fraca, mas contínua.
— Há quanto tempo sua esposa é alcoólatra, Deputado Porter? — perguntou o médico.
Era um homem pesado de corpo, de rosto, de sobrancelhas e de cabelo. Até mesmo as dobras do rosto eram pesadas, assim como o queixo, as mãos e as coxas. Ao contrário de outros psiquiatras vienenses, ele não usava barba, nem bigode. Suas orelhas grandes eram caídas. Vestia-se à europeia, embora tivesse vindo para os Estados Unidos vinte anos antes. Tinha um cheiro de tabaco, de hortelã, além de um aroma estranho que Francis não conseguiu identificar. Falava quase sem sotaque estrangeiro.
Francis hesitou. O médico o intimidava com seus olhos irrequietos, olhos estranhos, redondos como moedas de prata, um pouco repuxados, frios e perscrutadores.
— Creio que há dois anos, embora eu não tenha certeza — respondeu Francis. — Ellen sempre soube que tenho aversão ao álcool, a não ser por um pouquinho de vinho doce ou de xerez antes do jantar, ela conhece a lei, agora. Quando nos casamos, antes da Lei Seca, nunca permiti bebidas fortes em casa, nem mesmo quando tínhamos convidados. Ela parecia não fazer questão, porque não bebia, ao que me constava. Não sei onde consegue comprar uísque contrabandeado, pois raramente sai de casa. Tenho confiança nos empregados, que não gostam muito dela. Minha mulher é bastante... vaga. Indiferente demais para notar a presença deles.
O médico refletiu, zumbindo como uma abelha distante e mordendo os lábios grossos. Depois, disse:
— Pelo que o senhor me contou, vejo aqui o arquétipo de uma mulher profundamente neurótica, não muito inteligente, nem muito culta, imersa em si mesma, egoísta, distante, preguiçosa, letárgica, frígida, mesquinha, de ideias estreitas, ignorando deliberadamente o mundo à sua volta, dissociada, deprimida, ansiosa, às vezes hostil, com uma passividade infantil. Um caso clássico. O senhor me disse que ela não conheceu o pai e que vem da classe mais baixa de trabalhadores. Provavelmente ela tem ressentimento contra o pai, embora tenha estado à procura dele. Seu primeiro marido aparentemente substituiu a imagem desse pai, e a viuvez deixou-a perdida. Ela nunca superou, ao que parece, a fase oral, anal, ou uretral de desenvolvimento infantil. Seu amor à garrafa também sugere que ela se viu privada do seio materno. Sim. Clássico.
Francis se contraíra ante alguns dos termos melífluos, mas inclinou a cabeça solenemente. O médico prosseguiu:
— O total afastamento de sua esposa em relação ao mundo à sua volta também sugere uma provável psicose. O senhor já pensou em interná-la?
— Conforme lhe disse, Dr. Lubish, ela esteve internada durante dois anos após a morte do primeiro marido. Receio que nunca se tenha recuperado totalmente. Durante aqueles anos, visitei-a muitas vezes e ela não me reconhecia. Disseram-me que durante um ano não falou e parecia viver em transe. Somente à noite demonstrava emoção. Chorava durante horas, mesmo depois de ter tomado sedativos. Quando voltou para casa, aparentemente curada, mostrava-se passiva e indiferente, até mesmo com seus pobres filhos, os quais, alegra-me dizê-lo, se tornaram normais e sadios depois que me casei com Ellen. Minha mulher não demonstra gratidão por minha orientação e meu cuidado para com seus filhos, embora eles sejam muito afetuosos comigo e confiem em minhas decisões.
O médico inclinou a cabeça.
— Eles têm realmente sorte por poder contar com o seu apoio. O senhor poderia convencer a Sra. Porter a vir tratar-se comigo?
— Duvido. Conforme lhe disse, ela raramente sai de casa, embora eu a leve para a Europa todos os anos, no verão. Mas Ellen tem mostrado cada vez menos interesse por museus da Europa, pelas galerias de arte, pela ópera e outras atrações.
Sei, entretanto, que se interessava muito por tudo isso, antes da morte do primeiro marido. Para dizer a verdade, era patrona da Metropolitan Opera, do Metropolitan Museum e do balé.
— Agora ela regrediu para o ambiente do útero. Desligada das coisas. Protegida. Nada lhe sendo exigido, absorta em si mesma. Receio uma psicose...
— O senhor poderia ir vê-la em nossa casa, doutor?
O psiquiatra apertou de novo os lábios e fitou Francis.
— Prefiro vê-la num ambiente protegido, como o hospital psiquiátrico particular ao qual estou ligado, em Westchester. Terapia intensiva, que a leve a despertar para a realidade. Diga-me: ela é extravagante? Sai de casa para fazer compras desnecessárias, sem pensar no custo e esquecendo-se depois dessas compras? Costuma comprar à toa, sem nexo ou necessidade?
— Ellen tem uma inclinação para extravagâncias, embora menos do que antes. Discuti isso, inutilmente, com os administradores da fortuna do primeiro marido dela. Eles alegam que Ellen vive dentro de suas possibilidades, mas duvido. Temos quatro empregados; dois seriam suficientes. Isto é, seriam, se Ellen se interessasse pela casa e se ocupasse com alguns dos serviços domésticos.
Quando Francis marcara aquela consulta, o médico astuto investigara sua vida e a de sua esposa, as condições financeiras de ambos, descobrindo que eram excelentes. Fora discretamente informado da grande fortuna dos dois, assim como da dos filhos.
— Eu gostaria de ter uma consulta com os filhos da Sra. Porter e também com os administradores da fortuna. Internar um paciente é às vezes muito difícil, Deputado Porter.
— O senhor não achará Charles Godfrey, Jochan Wilder e o resto da firma muito acessíveis, doutor. Para dizer a verdade, consideram-me um monstro e antipatizam profundamente comigo. Foram assim desde o princípio.
De novo os olhos do médico tiveram uma expressão perscrutadora. Francis teria ficado admirado se soubesse como sua vida havia sido profundamente investigada por aquele homem cordial que tinha um cheiro tão estranho.
— Os advogados em geral desconfiam de um segundo marido, quando a fortuna do primeiro era muito grande — disse o Dr. Lubish. — O senhor não controla a fortuna? É pena. Afinal de contas, os advogados cobram altos honorários, o senhor sabe. — O médico sorriu. — Em todo caso, se a Sra. Porter for internada (se o senhor conseguir uma ordem judicial, nesse sentido), o senhor poderia então ser nomeado tutor de sua esposa e controlar a fortuna. Mas, como advogado, deve saber disso.
O médico não ficou admirado ao ver o rápido brilho por detrás dos óculos de Francis e a cor que subiu às faces emaciadas.
— O senhor precisa compreender, doutor, que amo profundamente minha esposa. Quero o que for melhor para ela. Eu... a amei desde que ela era criança. É um desastre que a vida dela tenha tomado o rumo que tomou. Ellen teria sido mais feliz na sua verdadeira situação, como criada.
— Desambientação. Sim. É um trauma para as pessoas simples, que, por natureza, preferem uma vida dirigida e sem complicações. Recentemente um meu paciente, um antigo pedreiro, inculto e sem a menor educação, herdou uma grande fortuna de um parente distante, que ele nem mesmo conhecia. — O médico tossiu. — Foi muito triste para ele. Atirado num meio que lhe era estranho, com dinheiro, uma casa bonita, carros, roupas finas, ele ficou desnorteado. Gastava como um doido; bebia desregradamente. Virou mulherengo... É assim que se diz? Jogava dinheiro fora. Louco, sim. Felizmente os amigos o ajudaram, assim como os advogados. Justo a tempo, pois do contrário ele teria ido à falência. Está agora no meu hospital particular e esperamos que, com o tempo, venha a curar-se. Seu filho... hum... foi nomeado seu tutor. Um rapaz sensato, prudente. — O médico refletiu por um momento, depois, disse: — Gostaria de ver a Sra. Porter, para formar uma opinião definitiva. O senhor poderia convencer a Srta. Gabrielle e o Sr. Christian a virem aqui para uma consulta, antes de eu ir visitar sua esposa... como seu amigo, deputado?
— Eles ficarão muito satisfeitos em vir consultá-lo, doutor. Para dizer a verdade, foi Gabrielle, que o senhor conhece por intermédio de sua filha, quem sugeriu que eu o procurasse. Christian também acha que a mãe precisa de tratamento. Christian é secretário-correspondente da Fundação David Rogers e Gabrielle, está estudando para desenhista de modas... isto é, quando não está viajando. Cada um deles tem seu próprio apartamento. São muito inteligentes. Ainda solteiros. — Francis hesitou, depois disse, aborrecido: — Christian quer casar-se com a filha de Charles Godfrey e eu me oponho a essa união. Nada desejável, embora a moça seja rica, pelo que me consta. Conheço a mãe dela, que é muito astuciosa e foi empregada de minha mulher. Governanta dos filhos de Ellen até ela... induzir... Charles Godfrey a casar-se com ela, uma mulher sem nenhuma atração física, sem família e sem dinheiro.
O médico notara quantas vezes Francis falara em dinheiro durante aquela consulta a respeito da esposa. A palavra parecia uma obsessão para ele. Sendo um homem esperto, de ideias políticas radicais, como Francis, o médico não achava aquela obsessão desagradável. Ele era muito sofisticado, na realidade, e conhecia vários membros da Fundação David Rogers. Para dizer a verdade, a fundação o ajudara a fundar seu hospital particular, uma de suas “obras de caridade”. O médico era muito rico. Mandava somas consideráveis para a Alemanha, em benefício de um homem obscuro, mas violento, chamado Adolf Hitler, que estava sendo observado com grande interesse pela Sociedade Scardo e pelo Comitê para Estudos Estrangeiros. Um dos amigos do médico era o Coronel House, que várias vezes dissera francamente que esperava ver a América abraçar o socialismo... “O socialismo sonhado por Karl Marx”. O Coronel House fizera um ótimo trabalho de sedução, conseguindo que o Presidente Wilson fizesse os Estados Unidos entrarem na Grande Guerra, o que realizara o sonho de Lênin, de Trótski, de Marx e de Engels. A comunidade mundial, dominada por uma elite internacional estabelecida, estava progredindo.
Francis teria realmente ficado admirado com o que o médico sabia e com aquilo em que estava secretamente envolvido.
— Vou pedir a Christian e a Gabrielle que venham consultá-lo. Depois lhe telefonarei, doutor.
— Como a Sra. Porter é agora quase uma enclausurada, é uma pena que não tenha amigos ou conhecidos que possam apoiar qualquer conclusão a que cheguemos.
— Há uma amiga — disse Francis. — A Sra. Wilder, divorciada de um dos administradores da fortuna de Jeremy. Kitty Wilder. Ela tem falado muitas vezes, com tristeza, da deterioração da personalidade de minha mulher nestes últimos anos. É uma boa amiga.
O Dr. Lubish conhecia muito bem Kitty e sorriu.
— Creio que minha mulher a conhece ligeiramente. Muito bem. Ficarei esperando por seu telefonema.
Não achou necessário dizer a Francis que Kitty Wilder visitava frequentemente sua esposa e que muitas vezes zombara de Ellen e de Francis. Era muito vingativa, principalmente no que dizia respeito a Ellen, a quem chamava de tola ignorante, débil mental, sem educação e sem finura.
Ellen afastou as pesadas cortinas de seu quarto. Eram três horas da tarde e ela acabara de acordar de um sono entorpecido. Viu a neve silenciosa estremecendo ao vento leve. A rua estava quase deserta, em semi-obscuridade; o céu era sombrio. Encostou-se na janela fria, fechou os olhos inchados e doloridos e disse de si para si: “Mais um dia. Quando acabarão?” Pensou numa frase de Alexander Pope: “Essa longa moléstia, a minha vida ”.
Não tinha mais criada particular. Francis declarara que era uma “extravagância” e Ellen deixara que ele a despedisse. Não se aborrecera com isso. Sabia que a casa estava ficando mais desleixada de ano para ano e pouco se importava. A casa de Long Island fora vendida no verão anterior e ela não protestara. Até mesmo aquela casa, comprada por Jeremy, não mais a interessava. Os filhos tinham partido; ela vivia ali sozinha com Francis, que se tornara para ela uma sombra desagradável e um motivo de medo.
Francis teria ficado admirado, mas Ellen sabia de tudo a respeito do marido e de suas atividades. Lia os livros dele, em segredo, e percebia que era isso o que Jeremy odiara. Muitas vezes pensava em pedir a Francis que partisse, que a deixasse viver em silêncio os anos de vida que lhe restavam. Somente no silêncio podia ser ela mesma, e pensar — e seus pensamentos eram terríveis. Mais ou menos dois anos antes, deixara de regredir aos primeiros anos de sua existência e se tornara consciente das coisas, embora nunca falasse dessa consciência. Quando isso se tornava insuportável, recorria à bebida, pois somente o álcool podia diminuir seu terror e sua agonia. A vida era quase insuportável; aquele anestésico era guardado num lugar secreto. Um dos empregados a supria, comprando de um vendedor clandestino. Era um homenzinho astuto, de quem Francis gostava, sem nenhuma outra razão a não ser a obsequiosidade com que o sujeito o tratava. “Ele conhece o seu lugar”, dizia Francis à esposa. Ela não respondia. Detestava Joey, mas ele lhe era necessário. Roubava-a quando comprava o uísque “no próprio navio, madame”. Não passava de falsificação, a dois dólares por menos de meio litro; e ele cobrava seis de Ellen. Fora Joey, que era muito inteligente, quem sugerira que ela precisava de um anestésico para sua alma e ardilosamente a incitara a beber. “É bom para a senhora. Levanta o ânimo, madame.” A princípio ela recusara, depois cedera. O álcool a mantinha viva “por meus filhos”, de modo que ela não sentia remorsos. Às vezes tinha mesmo gratidão por Joey.
Ellen tentara conservar os filhos em casa, mas Francis dissera, com insistência, que eles precisavam ter vida própria, embora lhe doesse pensar que iriam gastar “todo aquele dinheiro, com eles mesmos”. Francis fora habilmente manejado por Christian e por Gabrielle. A moça estivera insistindo com a mãe para que comprasse uma casa na parte alta da Fifth Avenue, e, para evitar isso, Francis conseguira fazer com que Ellen concordasse com que Gabrielle tivesse seu próprio apartamento. “Afinal de contas, ela é adulta, Ellen, e precisa viver sua vida.” Quanto a Christian, era homem e precisava viver como um solteiro jovem, longe da mãe.
Restava apenas uma ilusão a Ellen, isto é, que seus filhos a amavam, mesmo que não precisassem mais dela. Era verdade que eles jamais lhe tinham demonstrado respeito, deferência ou uma afeição clara, mas estava convencida da dedicação deles, apesar de súbitos alarmes e de grandes dúvidas em sua mente. Dera-lhes tudo o que haviam desejado. “Jeremy haveria de querer isso”, dizia Ellen de si para si, esquecendo-se do quanto Jeremy fora amante da disciplina. Dedicava aos filhos um grande amor, o maior depois do que dera ao marido. Por que, então, não haveriam de amá-la e preocupar-se com ela? Se às vezes sentia um grande desejo de morrer, o álcool a consolava, fazendo com que ficasse convencida do amor dos filhos. Pois não a visitavam uma vez por semana, expressando sua afeição com a preocupação que tinham com ela? Eram seu único consolo. Em sua penteadeira e na biblioteca havia muitos retratos dos filhos e ela várias vezes dormia com um ou dois embaixo do travesseiro.
Charles Godfrey perdera a influência que tivera sobre ela e às vezes Ellen o censurava levemente quando ele, zangado, lhe dizia que os filhos não precisavam dos presentes caros e do dinheiro que a mãe lhes dava, já que tinham uma ótima renda.
— Mas tenho prazer em dar-lhes uma alegria — protestava Ellen. — Jeremy gostaria que fosse assim. — Quando Charles lhe dizia que Jeremy não quereria que “fosse assim”, ela sorria de leve e virava a cabeça, tendo nos olhos uma expressão de quem sabia o que fazia. O furo em seus recursos e o fato de Francis usar o dinheiro dela para suas “causas” às vezes a deixavam sem dinheiro. Mas Charles não permitia que Ellen tocasse no capital. Quando Francis a levava para a Europa, iam na segunda classe dos navios.
— A ostentação é um crime — dizia ele. — Há outras pessoas que precisam de dinheiro. Não podemos seguir o exemplo dos ricos ociosos, Ellen. Temos que levar em consideração nossas caridades, nosso dever para com os infelizes.
Ela não sabia quando exatamente começara a ter tanto medo de Francis. Era um medo diferente do que sentira quando se casara com ele. Era amorfo, embora nunca a abandonasse, ameaça sempre presente. Mas Ellen não sabia que ameaça era. Sabia apenas que, quando Francis estava em casa, ela não podia descansar, olhando sempre por sobre o ombro, como se temesse alguma coisa. Mal conseguia obrigar-se a jantar com ele, e muitas vezes saía da mesa sem comer coisa alguma. Ia para o quarto e bebia, com mãos trêmulas. Quando Francis dormia no quarto dele, pegado ao dela, Ellen ficava deitada rigidamente, as mãos cruzadas fortemente, transpirando. Era um medo animal. Quando ele saía de casa para ir ao escritório, ou para suas inúmeras “reuniões”, Ellen relaxava, exausta, e conseguia dormir um pouco. Nunca se juntava aos amigos dele, nem se sentava à mesa com esses convidados. Também eles representavam uma ameaça. Francis sempre dizia aos amigos que sua mulher estava “indisposta”. Ela os vira de longe, algumas vezes, e tremera.
Ellen frequentemente perguntava a si própria por que motivo temia aquele homem que a amava sinceramente, que a olhava com ar melancólico e procurava conversar com ela. Às vezes ela tentava desesperadamente responder-lhe, mas sua língua parecia engrossar e ela podia apenas gaguejar e murmurar, fugindo depois. Aí, então, sozinha, tinha uma sensação de culpa e chorava, pois não era ele bom e dedicado aos enteados?
Ellen não relacionava o medo que tinha de Francis com os livros com os quais ele enchia a casa. Jeremy odiara esses livros, mas Ellen não relacionava esse ódio com o medo que sentia. Achava que Francis estava obcecado com suas “causas” e ajudava-o, mas não via razão para temer pelos filhos ou por ela mesma. Além do mais, os jornais não atacavam ferozmente as ideias que Francis proclamava? Os editoriais estavam cheios de ironias e de avisos. Algumas vezes ela lhe chamara a atenção para esses artigos e se encolhera ao ver no rosto do marido uma cólera súbita e silenciosa.
Francis lhe parecia o menos perigoso dos homens, mas apesar disso Ellen se afastava dele. Seu corpo e sua mente queriam que ele fosse embora para sempre. Os velhos conhecidos não a visitavam frequentemente e nem ela os visitava. Havia na atmosfera qualquer coisa que Ellen não sabia descrever, mas que a amedrontava. Nunca na vida ela se sentira muito ligada ao mundo, a não ser quando Jeremy era vivo. Mesmo assim, só entrara naquele mundo porque o marido pertencia a ele. Aquele mundo não fora estranho para Jeremy como o era para ela, pois as antigas lembranças de sua infância infeliz não podiam ser esquecidas. Mas, quando ela estivera com Jeremy, as recordações tinham sido atenuadas e Ellen gozara a vida, porque amava.
Seus filhos faziam com que ela se sentisse monótona, velha e sem opinião. Ellen perguntava a si mesma se eles não teriam razão. Alegrava-se com o brilho deles, com suas qualidades, com sua popularidade e com seu sucesso como seres humanos. Ouvia as vozes animadas dos dois com êxtase e humildade. Quando a visitavam, era como se ela recebesse um presente, pelo qual não poderia mostrar-se suficientemente grata. Sendo mãe, nunca lhe passara pela cabeça que eles desejavam sua morte para poder herdar. Era-lhe impossível imaginar que pudessem tornar-se seus inimigos, ou que a ferissem, ou conspirassem contra ela. Certa vez, desesperado, cheio de ansiedade por ela, Charles lhe dissera:
— Ellen, você não conhece seus filhos. Os pais nunca conhecem os filhos e você os conhece ainda menos. Por favor, tenha cuidado.
Ela demonstrara a primeira reação violenta, em muitos anos, e gritara com ele, ficando depois histérica. Somente quando os filhos estavam em casa é que não tinha medo de Francis e conseguia falar. Na voz de Christian ela ouvia Jeremy; na aparência morena de Gabrielle, via o marido morto.
O retrato de Jeremy fora retirado da biblioteca. Estava dependurado na parede do quarto dela. Ellen conversava com o retrato numa confusão embriagada, sorrindo, inclinando a cabeça com um calor passageiro, uma grande felicidade.
Havia apenas uma pessoa, além dos filhos, a quem ela se agarrava: Kitty Wilder. Conversava com Kitty e, gaguejante, confiava-lhe seus receios vagos mas sempre presentes, falava dos filhos e do orgulho que tinha deles. Kitty sempre a ouvia com grande compreensão e afeto, embora intimamente zombasse e risse daquela tola, aquela tola feiosa que perdera a beleza que um dia possuíra. Ultimamente ela prestava mais atenção às “divagações” de Ellen, indo contar tudo a Christian e a Gabrielle. Disse um dia a Francis, com lágrimas fingidas:
— Tenho medo, por Ellen. Ela não parece... boa da cabeça. Nunca soube exprimir-se claramente, mas agora está realmente incoerente. Sim, tenho medo, por ela. Acho que precisa de... tratamento.
— Deus do céu! — exclamou Francis. — Faz quinze, dezesseis anos que Jeremy morreu! Você me diz que ela ainda fala nele, constantemente. Por quê?
Kitty se regozijava com a evidente tristeza de Francis. Odiava-o, mas agora odiava Ellen ainda mais. Fora ela quem dissera a Francis que Ellen estava “bebendo muito”.
— Não sabia, querido? — Às vezes acrescentava: — Você nunca foi realmente marido dela.
— Sei disso — respondia Francis, parecendo vulnerável, infeliz e patético.
Kitty se alegrava com isso. O sofrimento dele. lhe causava um grande prazer. Francis a enjeitara por aquela empregadinha desleixada. O azar era dele, a alegria era dela. Kitty esperava pela derradeira vingança.
Ellen não sabia nem desconfiava de tais conversas. Naquele frio e ventoso dia de inverno, ela aproximou-se da penteadeira e olhou-se no espelho. Seus cabelos bonitos estavam agora ásperos e desbotados, caindo-lhe em desalinho nos ombros e nas costas. Seu rosto estava inchado e da cor de toucinho, seu contorno era irregular, o queixo, um monte de gordura. Seus olhos não tinham mais aquele brilho azul; estavam sempre vermelhos, as pálpebras inchadas. O corpo gordo perdera as linhas graciosas, parecendo que ia despencar. Os lábios, antigamente rosados, estavam ressequidos e desbotados. O roupão vermelho que ela usava estava amarrotado e não muito limpo, tendo um rasgão no ombro.
Ellen puxou os cabelos para trás e olhou para si mesma com ar sombrio. Sua carne doía, seus ossos doíam e pareciam pesados como pedra. Mas ela não mais se importava, pois Jeremy não estava ali para admirá-la, elogiá-la e tocá-la com mão suave e apaixonada. Quanto tempo fazia que ele morrera?
Muitos anos... Mas era como se aquilo tivesse acontecido na véspera, ou naquele dia. Ela encostou a mão na face: podia sentir seu suor azedo. Numa mesinha, o desjejum, que fora ali deixado horas antes, estava frio, os ovos congelados. Estava tão pouco interessada por comida como pela vida. Na casa havia apenas uns sons vagos; nada mais, além do vento na janela, o mais melancólico dos sons. O quarto estava gélido, pois ninguém acendera a lareira e a fornalha ultimamente não funcionava direito, o calor não chegava a seus aposentos. Mas Ellen era insensível ao frio. Podia apenas ficar sentada, segurando nos dedos uma mecha dos cabelos desbotados.
Esperava pela noite, quando todos estivessem dormindo, para poder descer até a biblioteca e ler um dos livros, encolhida como um animal acuado. Aí, então, seus pensamentos eram vivos, fervilhantes, desesperados, mortais. Nem mesmo nos piores dias de sua mocidade, tivera que suportar o inferno que agora havia em sua alma e em sua mente. Não rezava mais. Às vezes passava perto do piano e tocava algumas teclas, tão levemente que não havia som, nenhuma resposta. Em certas ocasiões, seu fraco instinto de conservação despertava e ela tomava um banho quente, penteava os cabelos, vestia-se e até falava com os criados, ou saía para um lento passeio a pé. Mas a tristeza de seu coração nunca desaparecia. Vivia num mundo de estranhos, era uma sombra no meio de sombras.
Uma pessoa como Ellen tinha necessidade de amor e de confiança. Somente quando os filhos a visitavam, cada vez mais espaçadamente, uma luz brilhava na escuridão e ela podia de novo amar e confiar. Nunca soube como estava sendo traída, como aqueles que amam e confiam, os inocentes, são atraiçoa-dos. Nunca desconfiou como o mundo dos homens era mau e assustador. Isso e seus filhos salvaram sua vida.
Apesar de tudo, ela começara a guardar os comprimidos que o médico lhe dera para ajudá-la a dormir. Não tinha exata consciência de por que motivo fazia isso. Sabia apenas que o esconderijo era um conforto, uma promessa.
Levantou-se pesadamente, exausta; tirou a garrafa de uísque do esconderijo e tomou um gole grande, puro. A bebida começou a aquecê-la. Talvez os filhos, ou pelo menos um deles viesse visitá-la naquela noite. A casa e ela despertariam e ser-lhe- ia possível acreditar de novo na vida e ter alguma esperança e a ilusão de que era amada.
Quando trabalhava arduamente para a Liga das Nações, o Presidente Wilson dissera:
“Penso no que Tennyson escreveu: ‘O Parlamento dos Homens, a Federação do Mundo’. Esta liga foi concebida com amor, com confiança na bondade inata da humanidade, na generosidade e no desejo de paz do espírito humano. A guerra é uma loucura, estranha à natureza humana, é um mal que faz com que os homens se retraiam. A América precisa ir na frente, no caminho da irmandade da humanidade, com amor e confiança. A liga conseguirá isso. Rezo para que tal aconteça, pois é o sonho de minha vida”.
Ele fora tão inocente quanto Ellen Porter e, assim como ela, nunca soube que sonhara com uma fantasia. Sim, pois nenhum dos dois jamais conheceu os insondáveis e negros abismos da alma humana, a mesquinhez, a avareza, a traição, a crueldade, a paixão animal, o ódio e a concupiscência. Tudo isso tornava “o sonho de suas vidas” inacreditável, um sonho impossível.
Capítulo 36
Durante mais de uma hora o Dr. Lubish ouvira as súplicas de Gabrielle para que ele “ajudasse” a sua “pobre mãe”. Ouvira a voz profunda de Christian, falando com solenidade e ênfase. Ouvira Francis. O médico era um homem inteligente e não levou muito tempo para perceber que, entre os presentes, Francis era o único que amava a infeliz mulher. Os filhos eram venenosos como serpentes, queriam apenas o dinheiro da mãe e que ela fosse afastada da vida deles. Os olhos do Dr. Lubish observavam os dois jovens, enquanto ele os ouvia em silêncio.
Ele não acreditava que Ellen estivesse de fato mentalmente doente; sendo realista, não tinha, tampouco, a convicção de que poderia curá-la, nem desejava isso. Se ela se isolara em si mesma, devia ter razões para tal. Fez algumas perguntas astutas e ficou convencido de que, embora Ellen provavelmente fosse neurótica (quem não o era?), não era psicopata. Era apenas uma mulher infeliz. Se ainda chorava a morte do marido, o mesmo acontecia com outras mulheres. Pelo que lhe haviam contado da infância e da mocidade de Ellen, ele adivinhara que as lembranças não poderiam ser totalmente anuladas. A memória podia ser uma coisa terrível, um fantasma para o futuro, um assaltante até mesmo nos momentos mais felizes. Mulheres com recordações mais alegres, com lembranças de pais amorosos e de uma infância feliz, podiam enfrentar as maiores calamidades mais tarde, na vida. Mas mulheres como Ellen não podiam, porque tinham sido privadas de força, na infância.
Durante alguns anos, Ellen fora protegida por um homem forte e pragmático, que a deixara na ignorância de coisas que poderiam matá-la. Perdera esse apoio e essa força. Agora, em confronto com a realidade, não podia suportá-la, embora fosse evidente que não sabia que esse confronto existia e apenas no subconsciente reconhecesse tal fato. Não podia aceitar a morte do marido, pois a vida dele fora a única coisa que ela jamais possuíra. Nenhuma terapia poderia, como acontecera também com Hamlet ao tentar exorcizar o fantasma de seu pai morto, apagar a lembrança do mal ou suavizar os ferimentos da inocência. Apesar disso, o médico não sentia piedade. A corrida ainda era para o mais veloz, a batalha para o mais forte, apesar dos apelos dos pobres de espírito. A vida não tinha compaixão dos inocentes, dos confiantes, dos generosos, dos que se sacrificavam, dos leais, dos puros de coração. “Por que haveria de ter?”, perguntou o médico a si mesmo. Estes eram os fracos, os explorados com justificativa, os eternos tolos, e a natureza inevitavelmente os destruía através dos outros homens. Eles eram traídos por suas próprias virtudes — se é que eram realmente virtudes, em vez de falta de inteligência e de conhecimento da realidade, falta de instinto de conservação.
Ele via agora ali no consultório dois jovens exigentes e impiedosos e um homem tão inocente e tão tolo como a mulher que ele amava. Os dois primeiros queriam relegar a mãe a uma morte em vida, a um lugar onde seria esquecida. Queriam privá-la de uma existência que tivesse algum significado, mesmo que essa existência fosse insuportável. Queriam reduzi-la à condição de animal, numa prisão confortável, por causa do seu dinheiro e para ficarem livres de sua presença incômoda. (“Por que não a estrangulam ou envenenam, simplesmente?”, refletiu o médico com um leve sorriso nos lábios grossos. “Seria mais caridoso, embora ilegal.”) Francis era outro caso. Ele desejava sinceramente, até mesmo apaixonadamente, ver sua mulher “curada”, para que voltasse ao normal. Não compreendia que isso era impossível e que sua presença na casa tornava mais grave a doença da esposa.
O médico era um homem muito exigente e reconhecia isso com certa complacência. Via a perspectiva de uma paciente rica, com um marido rico e filhos que gostariam que a mãe fosse internada para o resto da vida, se isso a “ajudasse”. Compreendia que, se Francis fosse nomeado tutor da mulher, poderia ser facilmente manejado, não somente pelos filhos, como por ele próprio. A paciente era relativamente moça — quarenta e dois anos — e com cuidado e tratamento poderia viver muitos anos, fisicamente bem, embora talvez não mentalmente. O internamento a destruiria para sempre — mas ela continuaria a viver. De certo modo, isso seria bom; por meio de drogas, Ellen ficaria livre da infelicidade, da dor e poderia viver, como imbecil, uma vida feliz e desligada. Isso não era de todo mau. A infância tinha as suas vantagens.
— Há, naturalmente, os advogados da Sra. Porter — disse o médico. — Eles aceitariam qualquer... sugestão... ou a rejeitariam? Será que lutariam contra o senhor nos tribunais, deputado?
Francis refletiu.
— Talvez. Nesse caso, o senhor teria que convencê-los de que é para o bem de Ellen.
— Eles não concordariam — interveio Christian. — Conheço-os. Afinal de contas são pagos para administrar a fortuna de meu pai e não hão de querer vê-la ameaçada.
Francis virou-se para o rapaz.
— Como advogado, sei que não poderíamos fazer coisa alguma sobre a fortuna de seu pai, Christian; poderíamos apenas tocar na renda de Ellen, que é considerável. Com a morte dela, toda a fortuna, a de Ellen e a de Jeremy, reverterão em seu benefício, Christian, e no de Gabrielle. Claro que, se ela for declarada incompetente, teríamos o controle de sua renda e talvez pudéssemos recorrer ao capital. Talvez. Para despesas e coisas parecidas. Eu já lhe disse isso antes. — Francis limpou a garganta. — Naturalmente, como marido de Ellen, eu teria direito, após sua morte, a uma parte da fortuna. Mas não devemos falar em morte. Precisamos discutir o que será melhor para ela atualmente.
Christian e Gabrielle ocultaram o grande desprezo que tinham por Francis. Ele prosseguiu:
— Tenho certeza de que as despesas no sanatório do Dr. Lubish não comeriam toda a renda de Ellen.
Francis não sabia que os dois jovens desejavam ardentemente a morte da mãe, de modo que não compreendeu por que motivo o fitaram tão atentamente. Continuou:
— A conselho de seus advogados, Ellen fez ótimos investimentos, e o valor deles está aumentando na Bolsa. Só ultimamente é que ela não tem tido dinheiro para novos investimentos. Ela nunca usaria o capital, pois sempre teve medo da pobreza, o que é natural, levando-se em consideração sua infância e sua mocidade. Caso ela fosse internada, esses investimentos, por ordem do tribunal, seriam deixados a nosso critério.
Os dois jovens sorriram para ele como anjos e o médico se divertiu com isso, como sempre se divertia com a natureza humana. Nunca ficava horrorizado ou revoltado.
— Acho que seria bom eu ver a Sra. Porter, para, depois de conversar com ela, chegar a uma conclusão sobre seu estado mental. Depois, gostaria de consultar seus advogados e dar-lhes a minha opinião. O senhor disse que conversaria com a Sra. Wilder, deputado. Ela estaria disposta, como uma velha amiga, a testemunhar, em juízo, sobre a condição da Sra. Porter?
— Sim. Discuti isso com ela — respondeu Francis. — Kitty também acha que minha mulher precisa ser internada imediatamente.
— É possível que os advogados concordem — disse o médico. — São homens responsáveis. Tenho certeza de que quererão o que for melhor para sua cliente.
Depois que os três partiram, ele refletiu consigo mesmo: “Feliz de quem não tem filhos”. Foi o máximo de compaixão que teve por Ellen.
Gabrielle conversou seriamente com o irmão e depois, com ar tristonho, foi procurar a mãe. Gabrielle considerava o plano de Francis infantil e ineficaz: levar o Dr. Lubish à casa de Ellen, ostensivamente como “amigo”. Ela não o receberia sob esse pretexto falso.
A governanta, a Sra. Akins, olhou para os dois irmãos com fingida compaixão, quando os fez entrar na casa fria e triste. Com um suspiro e uma expressão significativa, disse:
— Madame não está passando muito bem. Sei que são três horas, mas ela ainda está dormindo.
A Sra. Akins era uma mulher alta e muito magra, de rosto pálido, comprido, e um nariz sempre úmido. Seus olhos tinham cor de moluscos e sua boca era fina e estreita. Cabelos castanhos, curtos e grossos. Era muito religiosa. Assim como os outros empregados, detestava Ellen, pois, embora vaga e parecendo perdida, a patroa os tratava com uma bondade tímida, mas generosa, nunca parecendo perceber as falhas, os pequenos roubos, a sujeira nos cantos, as teias de aranha, nem a comida mal feita e mal servida. Só por isso, Ellen merecia o desprezo deles. Achavam-na “tonta” e estúpida, pois ela nunca erguia a voz nem lhes falava com a severidade que eles mereciam. Tinham ainda menos respeito por Francis, se é que isso era possível, considerando-o um coitado pretensioso. Mas, pelo menos, ele examinava as contas e discutia-as. Falava também com os empregados, frequentemente, sobre os “direitos do trabalhador”, dando-lhes tratados marxistas. Informava-os, solenemente, do passado de sua esposa como empregada doméstica, o que fez com que eles a desprezassem mais ainda. A Sra. Akins trabalhava ali desde a morte de Cuthbert, que, conforme lhe contaram os outros empregados, fora um tirano.
A Sra. Akins e os outros não sabiam que os ordenados excepcionalmente altos que recebiam eram pagos com o dinheiro de Ellen, sob protesto do marido. Não sabiam, tampouco, que era o dinheiro de Eíellen que sustentava a casa e, em grande parte, o próprio Francis. Se tivessem sabido, teriam zombado ainda mais dela, quando comentavam na cozinha ou em suas dependências.
A Sra. Akins não gostava muito de Gabrielle, que tinha uma língua delicadamente ferina, olhos escuros e sorriso bizarro. Mas pelo menos a Srta. Gabrielle era uma dama de nascimento, ao contrário da mãe. Por outro lado, a governanta gostava muito de Christian, que sempre tinha um sorriso encantador para ela e de vez em quando lhe dava uma gorjeta. Além do mais, era muito bonito e às vezes a olhava com uma malícia que a fazia corar. A Sra. Akins não tinha medo dele, como tinha de Gabrielle, que tinha um olhar vivo, fazia comentários sobre o jantar que estava sendo servido, olhava com ar significativo para um lustre sujo ou limpava um espelho com seu lenço de renda, chamando-lhe a atenção para isso. Assim sendo, a Sra. Akins respeitava e temia Gabrielle.
A moça disse, com ar tristonho:
— Pois bem, é muito importante, Sra. Akins. Importante para a Sra. Porter. Faça o favor de ir acordá-la e dizer que desça para falar conosco.
A Sra. Akins fitou-a atentamente. Pensou: “Pois bem, senhorita, quando sentir alguma coisa por sua mãe, faça o favor de me dizer. Refiro-me a um verdadeiro sentimento”. Subiu para acordar Ellen. Um rádio tocava alto no andar de cima. Gabrielle começou a dançar o charleston e logo depois Christian a acompanhou. Estalavam os dedos, rodopiavam e davam pontapés no ar. As meias de Gabrielle estavam enroladas e seus joelhos nus brilhavam. Ela atirara, numa cadeira, o manto de vison, de gola larga; seus cabelos pretos também dançavam na cabeça elegante. Era o protótipo da “melindrosa” de Harry Kemp. Usava colares de fios longos, braceletes, brincos reluzentes e um cigarro na piteira longa. Seu rosto moreno estava corado, os lábios pintados de um vermelho vivo. Christian gostava muito de Gabrielle e a admirava, desejando que não fosse sua irmã. Muitas vezes tinha ideias incestuosas. Quanto a ela, embora estivesse com vinte e três anos, não pensava em casar-se logo. Sua vida era muito excitante e variada; o único medo que tinha era de engravidar. Assim como Christian, não possuía ilusões, nem consciência, vivendo só para si e para seus apetites. Christian teria ficado admirado se soubesse que muitas vezes Gabrielle tinha sobre ele as mesmas ideias que ele tinha sobre ela, ainda que menos tentadoras, apesar de especialmente divertidas. Ela sabia que o irmão desejava casar-se com Genevieve, a filha bonita e loura de Charles Godfrey; às vezes Gabrielle ficava morrendo de ciúme e dizia a Christian, caçoando da moça:
— Ela é uma insípida de olhos vazios, com uma vozinha de camundongo.
Ultimamente Gabrielle se mostrava cada vez menos irônica, pois percebia que Christian se ofendia com suas críticas. Uma ou duas vezes o irmão lhe dissera bruscamente e encolerizado:
— Cuide de sua vida.
Dançaram animadamente no sujo tapete Aubusson, de modo que não perceberam que Ellen entrara na sala e os fitava com amor e ternura. A mãe estava pensando como os filhos eram bonitos, cheios de vida e de mocidade; seu coração pulsava de amor, mas também estava triste. Finalmente os dois a viram e pararam de dançar. Ellen bateu palmas e disse:
— Que bonito! E que ótima surpresa vê-los aqui, quando não os estava esperando!
A sala não somente estava escura, como havia ali um cheiro de mofo e de poeira levantada do tapete sujo. Gabrielle correu para a mãe e tomou-a em seus braços cobertos por mangas de veludo rubro, beijando-a afetuosamente. Christian também se aproximou e beijou a face de Ellen, olhando-a com visível preocupação.
— Você não está com boa aparência, mamãe. Não é mesmo, Gaby?
— Não, não está — concordou a moça, fitando a mãe com uma expressão solícita. Franziu o nariz ao sentir o cheiro acre de uísque que se desprendia de Ellen. — Há muito tempo que está com má aparência, mamãe. É por isso que viemos aqui. Para falar com você. Foi muito egoísmo nosso não termos vindo antes.
Ellen ficou perplexa. Alisou com mãos trêmulas o surrado roupão de lã marrom. Seus cabelos sem vida estavam presos no alto da cabeça, em rolos e cachos. O rosto estava flácido e pálido, os lábios secos, os olhos inchados, vermelhos e sem brilho. Parecia muito mais velha do que realmente era, disforme, inchada. Deixou que Gabrielle a levasse até uma poltrona e delicadamente fizesse com que se sentasse.
— Estou muito bem — disse Ellen. Sua voz, dantes tão musical, era agora fraca e áspera. — Vocês não precisam preocupar-se comigo, queridos. — Fez uma pausa. — Vão ficar para jantar?
Gabrielle olhou de relance para o irmão, depois sacudiu o dedo para Ellen, de modo carinhoso e admoestador.
— Somente se você nos der ouvidos e prometer seguir nosso conselho.
Ellen ficou encantada.
— Eu estava tão solitária! — disse. Após uma pausa, acrescentou: — Francis está em Washington, por alguns dias. Pelo menos acho que é lá que ele está. — Seus olhos se tornaram vagos por alguns instantes. — Qual é o conselho, queridos?
Gabrielle ajoelhou-se diante da mãe e segurou nas suas as mãos frágeis e quentes de Ellen.
— Você sabe como a amamos, não é, mamãe?
— Claro — respondeu Ellen. Seus olhos se encheram de lágrimas e seus lábios tremeram. — Vocês são toda a minha vida. — Olhou para Christian, que se aproximara. — Toda a minha vida — repetiu.
Somente pessoas como eles ou os criados é que poderiam não ficar emocionados com sua aparência, sua pobre tentativa de sorrir.
— Pois bem, então viva por nós e pare de nos tornar infelizes — disse Gabrielle, bruscamente.
— Infelizes?
— Sim, você está nos tornando muito infelizes. Sabemos que está doente e que precisa de um bom médico.
— Mas tenho um bom médico, Gabrielle. Vejo-o pelo menos uma vez por semana.
Ellen sentiu de repente um calor delicioso e seu rosto apagado adquiriu vida, devido à expressão de amor.
— Oh, o velho Dr. Brighton! — exclamou Gabrielle. — Ele faz apenas clínica geral. Você precisa de um especialista, mamãe, alguém com maiores conhecimentos médicos, e mais moço, também. Um médico que tenha estudado na Europa, tanto quanto na América. Um especialista. Você já me ouviu falar de Annabelle Lubish, não ouviu? Pois bem, o Dr. Lubish é pai dela e é um brilhante... especialista. Por favor, mamãe... — A voz de Gabrielle se tornou mais fervorosa e ela moveu-se, ainda de joelhos. — Por favor... veja-o... por nossa causa. Faça alguma coisa por nós, apenas por esta vez. Pense em nós e não em você, apenas uma vez.
Por um instante, Ellen pensou: “Mas já ouvi isso antes! Ouvi isso a vida inteira!” Não sentiu mais calor. A sensação de culpa se juntou ao sofrimento, e ela ficou de novo confusa. De certo modo fracassara com os filhos... como fracassara com a tia e provavelmente com muitas outras pessoas. Olhou para a filha com ar súplice.
— Eu preciso falar com Francis sobre isso...
— Já falamos, mamãe, e ele concordou conosco. Está muito preocupado com você. Mas nós é que somos mais importantes para você, não é, querida?
Ellen nunca ouvira a filha falar-lhe com tanta ternura, com tal insistência. Christian apertava o ombro da mãe, amorosamente. De repente lágrimas brotaram-lhe dos olhos e o calor lhe voltou numa onda de felicidade. Apesar disso, ela recuava ante a ideia de encontrar um estranho, mesmo que fosse um médico. Começou a falar, mas calou-se logo em seguida. Gabrielle beijou-a. Christian inclinou-se e beijou de leve a testa da mãe. Céus, aquele cheiro de bebida! O álcool acabaria matando-a, sem interferência de ninguém, mas ele não tinha tempo a perder. Viu, com repulsa, a mãe assoar o nariz num lenço sujo, ela que fora tão meticulosa e sempre se vestira tão bem! “Será que ela não dá ordens aos empregados?”, pensou o rapaz.
Ellen disse, em voz quase inaudível:
— Sim, por vocês, queridos. Farei tudo por vocês. — Fez uma pausa. — Podem dizer ao médico que venha aqui. Estou pronta a recebê-lo, qualquer tarde.
Isso não estava nos planos dos dois jovens. Gabrielle disse:
— Mamãe, você precisa ir ao consultório dele, onde existe o mais moderno equipamento. Ele não poderia examiná-la aqui. Hoje em dia a medicina é muito mais complicada. Virei buscá-la amanhã, às duas horas. Mamãe? Você fará isso por nós, não é?
A ideia de sair de casa, a casa que era para ela um refúgio, fez com que Ellen se contraísse. Mas viu os olhos brilhantes de Gabrielle, dilatados, insistentes, e resolveu concordar.
— Não saio muito de casa, mas, se isso os aliviar, irei amanhã, Gabrielle.
A moça fingiu-se muito emocionada. Passou o lenço nos olhos completamente enxutos. Beijou a mãe. Christian também a beijou. Os dois irmãos trocaram olhares triunfantes e felizes. Christian pensou: “Nem mesmo os horríveis jantares que ela dá, agora, serão demais para pagar por isso. Que velha desleixada ela ficou! Estou convencido de que está louca”.
Gabrielle e Christian ficaram esperando na luxuosa saleta do consultório do Dr. Lubish. Gabrielle andava de um lado ao outro, irrequieta, sob os olhares de admiração da recepcionista. Christian estava à janela manchada de neve, tenso, devido à expectativa. O Dr. Lubish apresentara os dois irmãos ao seu assistente, Dr. Enright:
— Quero que ele esteja presente... para confirmar.
Christian compreendeu imediatamente. Depois Gabrielle, solícita, levara a mãe até a porta da sala de consulta.
— Seja boazinha, mamãe querida — murmurara. Ellen, morta de medo, inclinara a cabeça. — Diga tudo aos médicos, sim, mamãe?
De novo Ellen inclinara a cabeça. A porta se fechara.
O Dr. Enright era um rapaz alto, gordo, com óculos grandes, rosto redondo e boca cruel. Era moreno e nervoso. Não entrou na sala de consulta com o Dr. Lubish e sua paciente.
Esperou, tão tenso, quanto Christian. Sabia qual o papel que deveria representar. Representara-o inúmeras vezes.
Sozinho com Ellen, o Dr. Lubish examinou-a, pois era tão bom clínico quanto psiquiatra. Não queria cometer erros que mais tarde pudessem ser notados por outros médicos hostis. Durante o exame, tomou notas, cuidadosamente, notas que seriam datilografadas mais tarde. “Não é uma alcoólatra, mas está a caminho disso. O álcool é um alívio para a estafa mental. A paciente é soturna, não reage, é vaga, confusa. Aparentemente de inteligência média, que tem declinado. Pressão arterial 19/11. Inchada. Desgaste dos músculos, devido à falta de exercícios e uma dieta pobre. Palpitações cardíacas. Certas disfunções do fígado. Chiados nos pulmões. Quarenta e três anos, mas com o estado físico tão deteriorado que parece ter sessenta. Olhos sem vida; voz baixa, insegura. Dá impressão de apenas existir e não de viver. Pele seca, rosto flácido, mãos quentes, embora não tenha febre. O histórico...”
Continuou a lista dos sintomas. Mas sabia que eram apenas funcionais e não orgânicos. A mente da paciente é que estava doente e isso se refletia no corpo. O médico ficou alegre. Mesmo assim, precisava ter cuidado. Cerimoniosamente, sugeriu que ela se vestisse e que depois fosse ao seu encontro na sala do Dr. Enright. Ficou lá sentado, trocando, em voz baixa, frases com o outro médico.
Ellen entrou timidamente na sala onde eles estavam. Os dois se levantaram e ela sentou-se numa cadeira de frente para ambos. Seu costume azul-marinho era velho e estava amarrotado; usava um chapéu preto, redondo, mal colocado na cabeça. Seu rosto tinha uma expressão apreensiva.
— Não estou doente — murmurou. — Eu... estou apenas cansada.
O Dr. Lubish fitou-a com ar tristonho.
— Veremos — disse em tom sinistro, mas preocupado. — Conte-nos agora alguma coisa sobre a senhora. Seus filhos já me falaram de seus casamentos, o primeiro com um cavalheiro famoso, o segundo com o Deputado Porter.
Ellen umedeceu os lábios rachados. Que tinha isso a ver com sua necessidade de cuidados médicos? Depois notou que o Dr. Lubish lhe sorria como um irmão afetuoso e ficou comovida. Seus olhos se encheram de lágrimas.
— Não há nada a dizer. Nada. Mas... nunca me esquecerei de Jeremy, meu primeiro marido. Era a minha vida — terminou ela, com voz sumida.
— Ele morreu há muito tempo, não é mesmo, Sra. Porter?
Ellen ficou em silêncio. Fixou o olhar na luz que batia em cheio no seu rosto trêmulo. Os dois médicos se inclinaram para ela, atentamente.
— Ele nunca morreu, nunca morreu realmente. Sinto-o mais perto de mim a cada dia. Sinto-o ao meu lado. Muitas vezes, ele tenta me dizer... alguma coisa... mas não consigo ouvi-lo... por enquanto. Ele... parece ter medo, por mim.
O médico tomou umas notas rápidas. “Alucinações. Recusa-se a aceitar a morte do marido. Julga que o vê e o ouve. Há uma suspeita de reações esquizofrênicas. Afastamento progressivo da realidade. Evita os amigos. Perda do poder de adaptação.”
As perguntas suaves e insidiosas continuaram. Ellen respondia com frases hesitantes. Mas os dois médicos eram tão bons para ela, pareciam tão desejosos de ajudá-la! Começou a relaxar. Fez confidências. Os médicos lhe perguntaram sobre sua infância e sua mocidade e perceberam a dor expressa no rosto exausto. Tomaram mais notas.
“Excessivamente preocupada. Fala com voz sonhadora, como se repetisse pesadelos. Fantasias. Introversão. Despersonalização. Fuga de ideias. Afetações estereotipadas; caretas. Apática, mesmo quando fala de reminiscências dolorosas. Conforme informações de parentes, de uma amiga íntima e do marido, houve graves mudanças de personalidade nos últimos dez anos. Sinais de velhice precoce. Cai em curtos estados de estupor no meio da resposta a uma pergunta. Frases incoerentes. Poucas reações emocionais. Falta de interesse. Pobreza de ideias. É inacessível. Pele inchada. Inatividade. Repetição de palavras. Mecanismos de defesa contra um ambiente que ela rejeita. Atitude ambivalente para com o atual marido, às vezes hostil, às vezes com sensação de culpa. Reação diminuída às exigências sociais...”
O interrogatório continuou, inexoravelmente. O dia escureceu. Movendo-se silenciosamente, o Dr. Enright acendeu mais alguns abajures. O cansaço de Ellen aumentou. Ela sabia que falara como não mais falava ultimamente, mas não se lembrava do que dissera. Desejava ardentemente o consolo do álcool. Às vezes tinha muito medo daqueles homens e depois dizia a si mesma que eram tão bondosos e que apenas queriam ajudá-la e que ela precisava cooperar, nem que fosse para ser agradável aos filhos. Além do mais, sentia uma vaga sensação de alívio, como se um abscesso tivesse sido aberto. Se ao menos não sentisse tanto cansaço!
Quase duas horas se passaram. Depois o Dr. Lubish inclinou a cabeça para o colega e ambos foram para a sala de espera. Os filhos de Ellen levantaram-se, olhando ansiosamente para os médicos.
O Dr. Lubish tinha uma expressão muito grave.
— Infelizmente ainda é muito cedo para um diagnóstico definitivo. Precisamos de tempo... de tratamento... para chegar a uma conclusão.
O Dr. Enright examinou astutamente os dois jovens e percebeu perfeitamente o que eram.
— Gostaríamos também de conversar com os criados da Sra. Porter...
Quando Gabrielle se virou para o irmão, seus olhos brilhavam. Ela sorriu. O Dr. Enright viu esse sorriso e percebeu a sua maldade. Ficou satisfeito com isso.
— Nesse meio tempo, tenho aqui uma receita para a Sra. Porter — disse o Dr. Lubish. — Um sedativo fraco. Uma influência tranquilizante.
— Acha que devemos tentar convencê-la a deixar de beber? — perguntou Christian, francamente.
O Dr. Lubish pareceu hesitar. Adiantou o queixo e, finalmente, respondeu:
— Não. Ela não é alcoólatra... ainda. Acho que bebe porque está mentalmente doente. Pelo menos é disso que desconfio. Precisamos de mais tempo.
“Tempo, tempo!”, pensou Christian. Estava decepcionado.
— Quanto tempo? — perguntou.
O Dr. Lubish encolheu os ombros.
— É uma coisa que não lhes posso dizer, Sr. Porter. Talvez vários meses. Mas precisamos ter certeza... talvez haja interesses conflitantes... Precisamos ter certeza.
— O senhor acha que pode ajudar minha mãe, doutor? — perguntou Gabrielle, com voz triste e infantil.
O médico sorriu largamente para ela.
— Oh, tenho certeza de que podemos ajudar... todo mundo — disse ele. — Mas levará tempo. Nós... hum... precisamos ter uma base firme. Creio que compreendem isto.
Começou então para Ellen uma época de exames constantes, de lágrimas, de perplexidade e de terror, de pesadelos distorcidos, de desespero, de estupefação induzida, de um sono drogado que não a descansava. Ela nada sabia dos métodos dos psiquiatras, nem mesmo que estava sendo “tratada” por eles. Os médicos sempre fingiam que faziam nela um exame físico, três vezes por semana, e falavam de pressão arterial, de moléstia de rins, de disfunção do fígado, de anemia, de menopausa. Insinuavam que ela acalentava ideias bizarras e que tomava atitudes que não eram normais. Quando Ellen protestava, davam-lhe pancadinhas no braço ou no ombro, como se ela estivesse louca e não devesse ser contrariada. Insistiam para que lhes fizesse confidências e ouviam-na com ar crítico, às vezes discutindo brutalmente com ela e fingindo cólera ante suas respostas. Isso a amedrontava cada vez mais. Com sensação de culpa, Ellen achava que deveria dar-lhes respostas “boas”, mas não sabia que respostas seriam essas. Às vezes ficava histérica, quando eles a repreendiam porque não os estava “ajudando” a ajudá-la e diziam que seus filhos estavam ficando tremendamente ansiosos. Ela, então, dizia incoerências — que eram devidamente anotadas.
Ellen falava de seus receios a Kitty Wilder, que sempre a ouvia com aparente simpatia — e depois ia contar tudo ao Dr. Lubish, com fingida tristeza.
— Creio que a pobrezinha está ficando cada vez mais confusa. Ontem mesmo ela me olhou durante longo tempo, antes de me reconhecer, eu, a sua melhor amiga! Depois, a princípio não conseguiu lembrar-se de meu nome! Mais tarde murmurou que achava que estava “vivendo num sonho” e olhou à volta, com ar vazio. Não creio que esteja melhorando. Sei que a culpa não é sua, doutor. Ela se acha assim há muito tempo, embora esteja ficando cada vez pior.
O Dr. Lubish pediu-lhe que trouxesse a governanta de Ellen a seu consultório, quando Kitty voltasse lá para aquelas conversas secretas. Foi o que Kitty fez, em fins de novembro de 1928. O Dr. Lubish sabia o que a Sra. Akins era: perversa, invejosa, hipocritamente humilde e “preocupada”. Aquela mulher alta e pálida, de nariz úmido, seria uma ótima testemunha. O Dr. Lubish chamou sua secretária para anotar textualmente as declarações da governanta.
Fungando e enxugando os olhos, a Sra. Akins disse:
— A pobre senhora está ficando pior dia a dia. — Agarrou a bolsa onde estava guardada uma nota de cinquenta dólares que Kitty enfiara disfarçadamente na mão dela. (“Haverá mais”, dissera Kitty.) Continuou: — Ainda ontem ela perguntou a Joey, o empregado que faz serviços avulsos: “Quem é você?” E ele trabalha lá há anos! Quando Joey respondeu que se chamava Joey, ela perguntou pela “gatinha”. Ela nunca teve uma gatinha. Preciso estar sempre lembrando-lhe que deve tomar banho, pentear os cabelos ou trocar por outro um vestido sujo. Francamente, o cheiro, às vezes! E ela vagueia pela casa, à noite, chamando pelo marido morto. Dá-nos calafrios e trancamos as portas de nossos quartos. Nunca se sabe o que pode acontecer com gente nesse estado. Se eu não gostasse muito da coitada, sairia de lá, de tanto medo que às vezes tenho. Ela chega perto de mim, de mansinho, sem o menor ruído...
Havia muito mais. Tudo mentiras ou distorções. Joey foi chamado e deu suas interpretações coloridas, esquecendo-se, naturalmente, de contar que roubava regularmente, tendo mesmo chegado a tirar algumas joias de menor valor. Também ele fora subornado.
— Juro por Deus, doutor, ela me abraça e chega mesmo a pedir que me case com ela, tendo um marido! E muitas vezes me chamou de Jeremy. Os olhos dela são esquisitos, o tempo todo. Tenho medo.
— Ah, mas você não pode abandonar a pobre senhora — disse o Dr. Lubish, em tom virtuoso. — Ela precisa de todos os amigos que tem.
“Não que tenha muitos”, acrescentou de si para si, com ironia. “Pois bem, tem vocação para vítima, e as vítimas merecem ser vitimadas.”
— Ninguém mais a visita — disse a Sra. Akins. — Não que eu os censure. Ela não fala com nexo com ninguém, não quer atender os telefonemas, a não ser quando se trata dos filhos e aí, então, chora o tempo todo e suplica-lhes que a venham visitar, esquecendo-se de que eles vão vê-la três ou quatro vezes por semana.
— Muito, muito triste — observou o Dr. Lubish, satisfeito.
Somente uma pessoa se preocupava realmente com Ellen: Francis Porter, e até ele mesmo estava começando a desesperar. Às vezes, à noite, quando estava só, ele chorava. Ellen não era mais sua mulher, mas Francis a amava, embora ela agora o olhasse assustada e amedrontada, nas raras vezes em que o via. Os médicos davam ao marido pouca esperança quanto à recuperação da esposa, “a não ser que ela seja internada o mais depressa possível”. Quando não estava calculando o preço dos psiquiatras, Francis calculava as despesas do sanatório particular do Dr. Lubish, caminhando de um lado a outro no quarto.
Ellen fora induzida a não mencionar sua “terapia” a Charles Godfrey.
— Você sabe como ele é, mamãe — dizia Gabrielle. — Odeia soltar até mesmo um níquel. E você jamais gostou da mulher dele... aquela criada. Ela é astuciosa e falsa. Eu não ficaria admirada se soubesse que ele andou roubando a fortuna de papai.
Como Charles Godfrey sempre examinava as contas de Ellen, o Dr. Lubish e seus colegas discretamente não lhe mandavam nenhuma conta. Eram pagas por Christian e Gabrielle.
As drogas que haviam sido dadas a Ellen tornavam-na cada vez mais desorientada. Ela foi piorando tanto de aparência, como de saúde; seus cabelos ruivos estavam agora entremeados de fios grisalhos. O rosto tinha uma expressão atormentada, ou vazia, a pele estava seca e enrugada.
Capítulo 37
Em novembro de 1928, Herbert Hoover foi eleito presidente dos Estados Unidos por uma “maioria esmagadora”.
Os conspiradores tinham agido bem. Ele era um cavalheiro de caráter e credenciais impecáveis. Não havia uma única mancha em sua reputação. Além do mais, não era jacobino, não era adepto de Rousseau, que sempre fora excêntrico, nos melhores momentos, e louco, nos piores. Hoover era, na realidade, uma antítese de Rousseau. Admirava a perfeição, ao contrário de Rousseau, e não acreditava que todos os homens tinham nascido “com inteligência e caráter iguais”. Também não achava que, pelo fato de ser pobre, um homem deveria ser considerado santo. Hoover não acreditava que o “selvagem nu”, tão elogiado por Rousseau, fosse superior ao homem civilizado. Estava firmemente convencido de que um homem deveria adquirir seus “direitos” em todas as áreas da sociedade. De um modo geral, a propriedade, com exceção da propriedade herdada, era a recompensa da superioridade.
Havia muito que Hoover era um estudioso da terrível Revolução Francesa e principalmente de Maximilien Robespierre. Estava ficando alarmado com uma nova e insidiosa tendência dos americanos. Antigamente sem classes distintas, sem nenhuma aristocracia estabelecida e sem senhores e nobres autoritários, o povo americano sabia, havia muito tempo, que o que importava era o valor intrínseco de um homem, fosse qual fosse a sua renda. Mas agora esse povo estava sendo levado a acreditar que uma classe amorfa, indefinida, chamada “as massas”, existia e tinha direitos superiores aos direitos dos outros. Como nenhum americano achava que fazia parte dessa estranha classificação, todos sentiam uma agradável sensação de virtude, gritando que alguma coisa precisava ser “feita” em favor das “massas”. Acreditavam, entretanto, que elas viviam em outra parte do país e não na vizinhança, por menores que fossem seus recursos. Eles tinham orgulho.
Mas os conspiradores compreendiam. Através de seus aliados, os comunistas e os ruidosos socialistas começaram a tomar conta da mente inocente dos americanos. Além do mais, insinuavam furtivamente que a América não devia mais gabar-se de suas realizações, de suas liberdades, de sua forma de governo, de suas tradições e de sua virilidade. Assim como a França de Robespierre, a América deveria, com toda a sinceridade, envergonhar-se da genialidade e da força propulsora dos americanos. Essa ideia pérfida foi adotada, não pelos trabalhadores da América, mas pela inteliguêntsia (assim chamada por ela mesma) e pelas classes mais elevadas. Ficou muito em moda ter essas ideias, e elas eram vivamente discutidas nos melhores salões, enquanto os que falavam sorviam, delicadamente, goles de vinho clandestino. Pela primeira vez na história americana, as pessoas educadas, mas mentalmente ignorantes, assim como os fracos, começaram a imaginar, em conversas e nos periódicos, “se Washington não deveria intervir para que houvesse justiça social”. Essa ideia começou a espalhar-se nos colégios. O americano médio, entretanto, ainda preferia que o governo central ficasse longe dele, de seus negócios particulares e de suas ambições, pois sabia,' instintivamente, assim como os antigos chineses, que “o governo deve ser mais temido do que o tigre audacioso”. •
Esse americano sensato não sabia que seu governo estava sendo invadido por Robespierres que já dominavam os bancos, agindo ativamente entre os imensamente ricos. Não sabia que estava prestes a se tornar vítima de revoluções, de economia planejada, de teóricos acadêmicos, de crises e de uma “radical mudança social”, conforme se expressara o assassino Robespierre. Não sabia que estavam planejando que a América cometesse suicídio. Sabia apenas que estava vivendo numa “época excitante”, conforme proclamavam os jornais, embora sua vida geralmente fosse sombria e monótona. Seus divertimentos vinham de filmes de Hollywood, cheios de glamour; vinham de notícias sobre gângsteres ricos e assassinos, sobre contrabandistas de álcool e suas amantes e sobre dinheiro adquirido do dia para a noite, na Bolsa. Não acreditava realmente nisso; a inflação estava comendo seu magro salário; aqueles que ele via no cinema, em fotografias ou em notícias policiais, faziam parte de um mundo além de sua compreensão e eram sua única fonte de colorido. Se a inteliguêntsia estava dando a si mesma o nome de “geração perdida”, enquanto passava o tempo em cafés, na França, queixando-se de ter sido expatriada da “vulgaridade, da exigência e do materialismo da América”, o americano médio desconhecia-lhe a existência. Não sabia que ela fazia parte de legiões assassinas, que se reunia para tomar de assalto as fortalezas de sua vida e derrubar todos os seus sonhos e seus ideais.
Os americanos ouviam cada vez mais falar dos psiquiatras e de seus ataques hedonistas a algo que chamavam de “puritanismo e desajustamento”. Isso era novidade para os americanos e curiosamente interessante. Já não era tão interessante para os pais americanos, cujos filhos estavam sendo corrompidos nas escolas por partidários da “liberdade sexual”, sendo ardilosamente induzidos a desprezar os pais por “dominá-los” ou inibi-los. Os pais não sabiam que os filhos estavam sendo sutilmente levados a acreditar que a autoridade era um mal e que eles deveriam ser “almas livres”. Começara a sedução das crianças.
Hoover ouvia todas essas coisas, mas achava que eram abstratas. Estava mais preocupado em “manter a América próspera — um carro em cada garagem, duas galinhas em cada panela”. Às vezes tinha uma suspeita instintiva e desagradável, mas seus inimigos o mantinham cuidadosamente isolado. Além do mais, ele tinha fé no sólido caráter dos americanos. Achava que a maioria dos homens era franca e honrada como ele. Fora por isso que os conspiradores o haviam escolhido para presidente dos Estados Unidos. Ele era a armadilha dos conspiradores.
Alfred E. Smith, pelo contrário, era realmente esclarecido, sem nenhuma ilusão sobre a natureza humana. Também sabia muitas coisas a respeito dos inimigos do país. Era, em muitos pontos, muito mais inteligente e realista do que Hoover e muito menos inocente. Assim como Hoover, fora um estudioso da Revolução Francesa e de Robespierre. Mas, ao contrário de Hoover, compreendia que algo de desesperado e de maligno se movia contra a América, em muitos setores, e via o paralelo entre a França da Revolução e os Estados Unidos.
Foi, portanto, escolhido para ser derrotado por Hoover. O inimigo o temia. Ele era pragmático demais, corajoso demais; não podia ser enganado, nem manejado, nem “aconselhado”. Não era ingênuo, nem confiante.
Depois da indicação de Hoover e de Smith por seus respectivos partidos, começou uma venenosa campanha de boatos contra o último. Os católicos poderosos que faziam parte da conspiração (mas que não acreditavam em sua religião e nem a praticavam) começaram a “indagar” se seria sensato fazer com que um católico envergasse as vestes augustas de chefe do Executivo. “Deveria um presidente ter uma lealdade dividida?” Era isso o que alguns redatores subornados indagavam ansiosamente, nos jornais. Como o homem comum mal sabia o que era “lealdade dividida”, uma versão mais crua lhe foi apresentada: “Primeiro, um católico como presidente, dirigido pelo papa, e depois um judeu”. Hoover, um homem justo, achava isso repulsivo. Mas Smith compreendia perfeitamente. Em poucas ocasiões, insinuou qual a identidade de seus inimigos — e dos inimigos de sua pátria —, mas não podia fazer nada mais, além de insinuar. Teria sido incrível para o americano confiante, em sua inocência, acreditar que sua morte como homem já estava decidida, assim como a morte do país.
Não acreditava que o terrível fantasma de Robespierre estivesse ameaçando a América. Ele estava ocupado demais, feliz demais, quando tinha um pouco de dinheiro no bolso para gastar e “divertir-se”. Ante a perspectiva da visita do príncipe de Gales à América, o povo estava alegre demais para poder sentir a aproximação do desastre.
Para Smith, derrotado, não foi surpresa ver, em 1929, o planejado colapso da economia americana. Hoover, a princípio, não acreditou. Quando finalmente se convenceu da verdade, atribuiu a crise “à depressão geral em todas as nações, como resultado da Grande Guerra”. Não sabia que a depressão universal fora calculada décadas antes e que nas costas dele (um homem corajoso e honrado) a trama ficava mais oculta — como nunca teria ficado oculta se Smith tivesse sido o presidente.
“Os asilos dos pobres estão desaparecendo, entre nós”, disse Hoover, com sinceridade. “Com a ajuda de Deus, logo veremos o dia em que a pobreza será banida deste país.”
Ele manteve a Lei Seca. Mas Smith cometeu um erro fatal quando pediu a volta dos direitos dos Estados e da Constituição. Isso os homens mortalmente silenciosos não poderiam suportar. Smith cometeu outro erro: declarou que a prosperidade permanente era uma ilusão e que deveriam ser feitos planos para evitar a adversidade, o desespero público e a depressão. Tais “planos”, naturalmente, não faziam parte da agenda dos inimigos. Era necessário destruir a prosperidade para causar a pobreza, o desemprego, o desastre financeiro. Daí viriam a mudança social e a revolução.
Como os inimigos, afinal de contas, eram humanos, cometeram um erro grave financiando Benito Mussolini e fazendo com que este assumisse o poder na Itália. Embora muitos dos conspiradores fossem também italianos, esqueceram-se da feroz independência de espírito dos italianos, de seu individualismo, de sua inteligência, de sua diversidade. Mussolini talvez encarnasse o ímpeto italiano no entusiasmo pela ação, no colorido, no amor pelo dramático e na extravagância. Mussolini talvez estivesse, realmente, decidido a aliviar a desesperadora miséria de seu povo, após a Grande Guerra. Mas era, em primeiro lugar, um italiano que amava o seu país apaixonadamente. Jamais poderia ser induzido a traí-lo e a participar da conspiração comunista-financeira. Não era nenhum stalinista.
Apesar de tudo, embora fosse astuto e inteligente, não compreendeu que o comunismo e o fascismo eram a mesma coisa e uma astúcia das forças malignas dos conspiradores internacionais. Estava por demais interessado em fazer reviver a grandeza da antiga Roma. Seus inimigos se aproveitaram disso. Fizeram promessas maravilhosas — e ele acreditou nelas.
Uma vez que Mussolini estava de posse do poder — e amado por seus compatriotas —, os conspiradores voltaram sua atenção para Adolf Hitler. O povo alemão, falido e desesperançado, começava agora a acreditar que essa criatura de seus inimigos o salvaria da destruição final. Ele poderia ainda estar na prisão; poderia ser anátema para os mais compreensivos dos líderes atuais. Mas dava-lhes a esperança de que o país poderia ainda viver.
Os inimigos de Hitler editaram seu livro, Níein Kampf, escrito na prisão, e lhe deram algumas sugestões. Sua histeria cruel, seu temperamento naturalmente instável, combinado com uma astuta visão, embora ele estivesse obcecado por um sonho louco (encorajado pelos inimigos), faziam com que fosse a arma perfeita para os objetivos deles. Refletindo, pensaram na Suécia. A Alemanha estava agora sem armas e precisava do melhor tipo de aço, que era produzido na Suécia. Os banqueiros suecos foram consultados e ficou combinado uma conferência com eles, para que se encontrassem com os seguidores de Hitler. Os fabricantes de munição da América estavam envolvidos. Esses inimigos não tiveram trabalho com Joseph Stálin. Este os compreendeu imediatamente. Pragmático, teimoso, patriota e decidido a conquistar o mundo com o eufemismo “ditadura do proletariado”, ele era, em todos os sentidos, um homem pronto. Não havia necessidade de industriá-lo. Stálin soubera tudo sobre eles, desde o princípio, o que não se podia dizer de Mussolini ou de Hitler.
A tragédia final estava sendo ensaiada sombriamente, embora o pano ainda continuasse descido.
Seriamente alarmado, Charles Godfrey teve uma conversa com sua filha Genevieve, uma bonita jovem.
— Genny, sou obrigado a pedir-lhe que veja Christian Porter o mínimo possível. Você não sabe nada a respeito dele...
A moça fitou-o com seus olhos cinzentos, que eram suaves e tinham agora uma expressão divertida.
— Mas eu sei, sim, papai. Sei exatamente o que Christian é. Ele é muito divertido e inteligente. Gosto de sua companhia, pois é vivo e interessante. Mas não se preocupe, nem tenha medo de que eu me case com ele, embora ele tenha pedido a minha mão várias vezes. Conheço seu caráter e não me casaria com ele por nada deste mundo. Enquanto isso, estou me divertindo.
Ela franziu a testa e continuou:
— Mas, quanto a Gabrielle... ela é perigosa, papai, e eu a desprezo. Acho que ama o irmão.
Charles ficou chocado.
— Em nome de todos os santos, onde é que você ouviu falar dessas coisas?
Genevieve encolheu os ombros.
— Papai, todo mundo sabe dessas “coisas”; sempre soube. Você pensou que podia conservar-me no jardim de infância para sempre? Oh, sou amável com Gaby; ela também é divertida. — A moça hesitou. — Alguma coisa está acontecendo naquela família. Estou tentando descobrir o quê.
Capítulo 38
Nesse meio tempo, Ellen Porter, drogada deliberadamente, desorientada, submetia-se ao longo “tratamento” imposto pelo Dr. Lubish e por seu colega. Tornava-se cada vez mais desligada do que se passava à sua volta. Não lia jornais, nem livros, nem revistas. Sua casa era uma prisão silenciosa, com guardas observando-a sempre. A solicitude dos filhos, o comportamento agora adulador dos empregados, tudo isso aquecia aquela mulher confusa, fazendo com que confiasse neles. Privada de amor, a não ser o amor de sua tia morta e o de Jeremy, também morto, não tinha a quem recorrer, não tinha um refúgio. Com sua natural fome de afeição, aceitava a de má qualidade que lhe era oferecida. Recusava-se a ver Charles e Maude.
Estava cada vez mais convencida de que Kitty Wilder era sua única e verdadeira amiga, agarrando-se a ela com uma força que teria comovido qualquer pessoa, exceto a própria Kitty. Quanto a Francis, tornou-se mais apagado na consciência de Ellen, que raramente pensava nele. Era uma sombra que ia e vinha. Quando ele lhe dirigia a palavra, Ellen não o ouvia. Percebia apenas que os lábios de Francis se moviam, como os lábios de uma sombra, sem emitir som algum. Quando ele a tocava, ansioso, ela recuava, estremecendo. Fugia quando ouvia os passos do marido, como se estivesse sendo ameaçada.
Seus sonhos eram sua única realidade e, à medida que passava o tempo, tornavam-se cada vez mais nítidos. Neles, vivia com Jeremy. Mais tarde percebeu, aflita, que o marido morto parecia querer preveni-la, insistentemente, de alguma coisa, mas, embora ouvisse a voz amada, não compreendia o sentido das palavras. Certa vez, no sonho, Jeremy agarrou-lhe o braço e levou-a para a porta da casa, tentando empurrá-la para fora. Ellen percebeu uma palavra: “Fuja!” Depois: “Ellen, minha querida, fuja!” Ela não podia compreender e fitou-o com ar súplice. Viu lágrimas no rosto de Jeremy, aquele rosto que, nos sonhos dela, se tornava cada vez mais moço.
O Dr. Lubish disse a Francis, a Gabrielle e a Christian:
— Acho que agora estamos prontos para o triste desenlace. Infelizmente a Sra. Porter não está melhorando. Para ser exato, está se deteriorando e é um perigo para si mesma. Precisa ser internada, para sua própria proteção. Temos bons advogados; reunimos todas as provas necessárias. Precisamos ter, imediatamente, uma conferência com Charles Godfrey.
Isso aconteceu em agosto de 1929. O Dr. Lubish disse a Francis:
— Como marido da Sra. Porter, peça ao Sr. Godfrey que marque uma entrevista, sem mencionar nossos nomes, embora eu ache que seria bom mencionar que os filhos da Sra. Porter estarão presentes.
Francis inclinou a cabeça. Estava muito pálido. Queria apenas que Ellen recuperasse a saúde e a sanidade mental.
— Quanto tempo ela ficará internada? — perguntou.
O médico sorriu-lhe afetuosamente.
— Apenas até ficar boa. Pode levar algum tempo... mas há esperança.
Quando Francis telefonou a Charles pedindo uma “conferência”, o advogado ficou exasperado. Disse:
— Francis, não vamos mais falar sobre o patrimônio de Ellen. Você sabe que é inútil.
— Não é exatamente sobre o patrimônio. É uma coisa muito mais importante.
Charles ficou atento.
— Que é, então? — perguntou.
— É sobre Ellen, Charles. Não vamos discutir isso pelo telefone. É um assunto muito grave. Você a tem visto ultimamente?
— Não. Faz mais de um ano que não a vejo. Que há de errado?
Mas Francis repetiu seu pedido sobre uma entrevista. Sentindo uma apreensão indefinida, Charles concordou imediatamente. Naquela noite, ele disse a Maude:
— Tenho a estranha impressão de que Ellen está em grande perigo. Não se preocupe. Estou começando a imaginar coisas; é a velhice.
Leu os jornais e esqueceu-se de Ellen. A Bolsa estava melhor do que nunca e Hoover se mostrava otimista quanto a uma “prosperidade permanente”.
— Não estou gostando disso — observou Charles para Maude. — Há qualquer coisa no ar. Eu gostaria que Jeremy estivesse vivo. Ele conhecia esses assuntos melhor do que eu. Eu deveria ter-me mantido informado...
Sua apreensão a respeito de Ellen voltou no dia seguinte, o dia da conferência com Francis. Ele disse a Jochan Wilder:
— Gostaria que você estivesse presente.
Aquele dia de agosto estava excepcionalmente quente, até mesmo para Nova York, e Charles se sentia muito irritado, sem saber por quê. Não podia concentrar-se nos documentos sobre a escrivaninha. Podia apenas pensar em Ellen e no marido dela. Estava transpirando; os ventiladores pouco adiantavam naquele calor úmido. Charles tomou uma bebida com gelo. O uísque era ótimo, pois ele tinha um contrabandista de confiança. Mas a bebida não o acalmou, como de costume. Ele disse a Jochan:
— Talvez seja o calor, mas estou nervoso e não sei por quê.
— Também estou nervoso — replicou Jochan, afável e sorridente. — Por falar nisso, estou vendendo minhas ações. Espero que você esteja fazendo o mesmo, Charlie.
— Sim; pouco a pouco. Não gosto do otimismo atual. Acho que está sendo estimulado deliberadamente.
— Ora, vamos. Por quem?
Charles ficou sério.
— Gostaria que Jerry estivesse vivo. Ele saberia. Disseme muitas coisas sobre... isso... antes de ser morto. Há muitos anos.
— As crises sempre vêm depois de altas exageradas — disse Jochan. — É por isso que estou vendendo regularmente.
— Se todo mundo pensasse assim, teríamos realmente uma crise — comentou Charles. — Acabei de ler que o Professor Fisher disse, há dias, que os preços atingiram “o que parece uma alta permanente”. É isso que me preocupa. Quando os economistas estão animados, é tempo de os investidores prudentes pensarem no assunto. E quando os políticos também estão animados, é hora de corrermos para os abrigos.
O senador amigo de Charles morrera no ano anterior, mas antes disso também prevenira Charles.
— Saia do mercado o mais depressa possível, Charíie, ou na medida do possível. Tenho ouvido boatos, embora o quadro seja cada vez mais sombrio e mais secreto. Creio que Mussolini e Hitler, assim como Stálin, deveriam ser levados mais a sério. Algo está acontecendo. Antigamente eu sabia de muita coisa, mas agora não consigo descobrir mais nada. Aqueles homens não são malucos como os jornais dizem que são. E muita gente está apoiando-os e financiando-os.
— Que têm eles a ver com a Bolsa, senador?
— Não sei, exatamente. Mas acho que fazem parte do quadro. Sei que isso parece fantástico, mas as fantasias geralmente se baseiam numa realidade secreta.
Às três horas, num quente dia de agosto, Francis, Christian e Gabrielle, em companhia de três estranhos, compareceram ao escritório de Charles para grande surpresa deste. Francis, cujas mãos tremiam, apresentou os desconhecidos. De repente Charles reconheceu um deles. Era William Wainwright, que fazia parte de uma das mais conceituadas firmas de advogados de Nova York. Charles conhecia-o ligeiramente e seu vago alarme aumentou. Os outros dois foram apresentados por Francis como sendo o Dr. Emil Lubish e o Dr. Enright. Agora Charles estava profundamente perturbado.
— Médicos? — perguntou, ao apertar a mão dos dois. Observou o Dr. Lubish, mais pesadão, e o mais moço e mais gordo, Dr. Enright.
— Psiquiatras, senhor — respondeu o Dr. Lubish, mostrando-se adequadamente solene.
“Que diabo de história é essa?”, pensou Charles. Olhou de relance para Gabrielle, de vestido de linho azul e chapéu cloche, e depois para Christian. Quando viu como estavam sérios, ficou tenso e prevenido.
— Podemos resolver tudo rapidamente, creio eu, Sr. Godfrey— disse Wainwright. — É realmente muito simples. Represento o Sr. Porter, a Srta. Porter e o Sr. Christian Porter. Tenho aqui uma porção de depoimentos assinados por estes dois médicos, pelo Sr. Francis, pelo Sr. Christian, por três empregados do Sr. Francis Porter e por mim. Consultei-os e acompanhei, de longe, o tratamento psiquiátrico da Sra. Porter, aos cuidados do Dr. Lubish e do Dr. Enright...
— Tratamento? — exclamou Charles, que agora transpirava visivelmente. Sentou-se na beirada da cadeira e perguntou: — De quê?
— De uma psicose — respondeu o Dr. Lubish. — Esquizofrenia. Tipos catatônico e paranóico. Ela está agora decididamente catatônica.
Charles ficou tão atônito e consternado que apenas pôde continuar sentado, mudo e de olhos arregalados. Wainwright, cuja reputação não podia ser posta em dúvida nem mesmo por Charles, colocou um monte de papéis sobre a escrivaninha. Jochan inclinou-se, ouvindo, as sobrancelhas contraídas.
— Há aqui um depoimento, muito importante, da Sra. Jochan Wilder, a mais dedicada amiga da Sra. Porter — disse o Sr. Wainwright.
— Ah! — murmurou Jochan. Mas somente Charles o ouviu.
— Faça o favor de ler essas declarações — disse o Sr. Wainwright, um cavalheiro de mais ou menos cinquenta anos, vestido de um modo conservador, de terno de sarja azul-marinho, apesar do calor. Tinha um rosto fino e sério, olhos muito azuis e inteligentes — Elas explicam tudo. Nós, advogados, conhecemos o valor do tempo.
Ainda estarrecido, Charles começou a ler. Seu rosto corado se tornou pálido e tenso. Silenciosamente, depois de ler uma das declarações, passava-a a Jochan, que começara a sorrir de leve. Mas não era um sorriso divertido. Os ventiladores zumbiam no silêncio quente. Um perfume úmido desprendeu-se de Gabrielle. Christian fumava um cigarro. Francis estava sentado, tenso, de mãos entrelaçadas. Os psiquiatras estavam relaxados e tranquilos. O Dr. Lubish fumava um de seus charutos pretos. O ruído da Fifth Avenue parecia excepcionalmente alto no silêncio do escritório, onde apenas se ouvia o farfalhar dos documentos. Uma poeira fina e dourada dançava aos raios de sol que entravam na sala. Gabrielle não parava de passar nos olhos um lenço perfumado. Em dado momento, soluçou alto. Jochan sorriu para ela, suavemente, e Gabrielle o odiou.
Quando terminaram a leitura dos papéis, Charles reclinou-se solidamente na cadeira e fitou cada um dos visitantes com olhar frio e terrível. Mas mantinha-se calmo.
— Compreendo. É por causa do dinheiro de Ellen, não é? — Agora havia um ódio violento em seu olhar. Fixou-o em Francis e disse: — Então, é isso.
Francis gaguejou.
— Sei que você jamais gostou de mim, Charles, e nunca compreendeu minha verdadeira solicitude por Ellen. Eu a amo. Você jamais acreditou nisso. Só quero vê-la curada.
Charles abriu a boca para dizer um palavrão, mas conteve-se. Atônito, agora, acreditou em Francis e teve pena dele, tanto quanto raiva.
— Então, de certo modo, você também é vítima, não é, Frank?
Francis pareceu perplexo e relanceou o olhar para Gabrielle e para Christian. Charles encarou os dois jovens.
— Vampiros — disse ele. — Querem internar sua mãe e agarrar o dinheiro. Muito simples. — Olhou para os médicos e continuou: — Os senhores têm um sanatório, não têm? Programaram internar lá a Sra. Porter... até o fim da vida.
— O senhor está pondo em dúvida nossa reputação como psiquiatras? — perguntou o Dr. Lubish com sua voz grossa, falando pela primeira vez. — Sugiro que examine nossas credenciais e se lembre da lei sobre difamação.
— Tenho minha própria opinião — replicou Charles, em tom sinistro. — Sim, percebo tudo. Tenho o quadro completo em minha mente. Estão prontos para levar este caso aos tribunais, tentar conseguir que o Sr. Porter seja nomeado tutor da Sra. Porter e enclausurá-la para o resto da vida.
— Apenas até ela ficar curada — disse Francis, em tom que causava pena.
Charles encarou-o.
— Frank, ela nunca ficará curada. Foi planejado assim. Você não compreende, seu maldito inocente?
— Difamação! — exclamou o Dr. Lubish.
— Não o creio — disse Wainwright. — É uma reação natural por parte de um velho amigo da Sra. Porter. O Sr. Godfrey é também administrador dos bens do falecido Jeremy Porter...
— Oh, compreendo — interrompeu Charles. — Compreendo bem demais. — Olhou de novo para os filhos de Ellen.
— Sei de tudo a respeito de vocês dois, desde que nasceram. E seu pai também tinha dúvidas a respeito de crianças. Agora essas dúvidas se justificam.
— Protesto — disse o Sr. Wainwright, corando.
Charles sorriu, mas era um sorriso feroz.
— Irrelevante — disse ele. — Não estou sob juramento. Sei que o senhor é um advogado muito conceituado. Sinto apenas que tenha sido... ludibriado.
— Ludibriado?
— Sim. A Sra. Porter está tão boa da cabeça quanto o senhor ou eu.
— Eu a vi, Sr. Godfrey. Na minha opinião de leigo, que eu sei que não será levada em consideração num tribunal, ela está louca.
— Fico imaginando se isso não foi provocado — disse Charles, em tom pensativo.
— Por quem? — indagou o Dr. Lubish, lançando para o ar uma baforada de fumaça.
— Oh, o senhor não me pega nesta. Eu estava apenas... imaginando.
Wainwright estava começando a se sentir mal. Ele tinha uma reputação a zelar. Perguntou a Charles:
— O senhor a viu recentemente?
— Não, não a vi — respondeu Charles com relutância.
— Ela vive enclausurada.
— Nunca se conformou com o assassínio do marido — disse o Dr. Lubish. — Está escrito aqui, no meu depoimento. Um caso triste.
— Creio que o Dr. Lubish tem um retrato da Sra. Porter, tirado no consultório dele — disse Wainwright.
— Ah, sim — respondeu o médico, movendo-se pesadamente na cadeira e remexendo num dos bolsos. — Aqui está.
— Entregou a fotografia a Charles, acrescentando: — Ainda tenho o negativo.
Charles examinou o retrato. Ficou chocado. Não conseguia reconhecer Ellen naquela mulher velha, estragada, desalinhada, de cabelos grisalhos, olhar vazio, boca aberta. Mas ele conhecia a aparência de uma pessoa drogada e sua cólera aumentou.
— Que é que o senhor lhe tem dado? — perguntou.
— Sedativos leves, para diminuir sua ansiedade e sua apreensão. Por falar nisso, sabe que ela é também alcoólatra?
— Não, não sabia. E não acredito nisso — declarou Charles. Havia qualquer coisa naquele pobre rosto inchado que o deixava doente.
— Só tenho uma preocupação... minha infeliz paciente
— disse o Dr. Lubish. — Ela precisa ser internada com urgência... para poder sobreviver. Se isso.não for feito logo, temo pela vida dela. Sou responsável...
— Tenho certeza de que é mesmo — declarou Charles, vendo que o Dr. Lubish enrubescia.
Charles olhou para Gabrielle e lembrou-se do que sua filha lhe dissera sobre ela.
— Você é terrível, não é? — perguntou. — Não pode esperar pela morte de sua mãe, não é?
— Difamação — disse Christian.
Charles virou-se para ele. Quase perdeu o controle.
— Você sabe que cometeu perjúrio? — perguntou.
— Bem, isso é uma acusação grave — observou Wainwright.
— Perjúrio também é grave — disse Charles, empurrando a cadeira para trás. — Quem andou pagando as contas dos médicos? — perguntou.
Houve um pequeno silêncio. Depois o Dr. Lubish disse:
— Os filhos. Estavam muito preocupados. Queriam que tudo fosse tratado confidencialmente. Os leigos, infelizmente, ainda acham que é uma vergonha sofrer das faculdades mentais. Acho compreensível.
— Então é por isso que meu escritório não recebeu nenhuma conta — disse Charles. Tinha vontade de matar, principalmente Gabrielle e Christian. O aspecto de Francis, infeliz e confuso, mas franco, convenceu-o de novo de que ele estava sendo sincero. Os únicos safados eram os filhos de Ellen... e seus psiquiatras. Charles sabia de tudo a respeito dos psiquiatras ve de suas opiniões contraditórias quando testemunhavam no tribunal. Ele conhecia um psiquiatra honesto. Consultava-o muitas vezes sobre assuntos legais. Disse, em tom ameaçador:
— Saibam que vou lutar contra isso. Não será feito nenhum acordo amigável. Exijo que a Sra. Porter seja examinada por um psiquiatra de grande reputação, cuja palavra é respeitada nos tribunais. O Dr. George Cosgrove.
Por um instante os dois psiquiatras tiveram uma expressão consternada. O Dr. Cosgrove era um médico muito conceituado. Depois, Christian disse:
— Não concordo.
Charles riu.
— Não concorda? Com uma outra opinião? Que impressão você acha que isso irá causar no tribunal, rapazinho?
— O Sr. Godfrey tem razão — disse Wainwright. — Para ser exato, eu mesmo sugeri isso, se é que está lembrado, Sr. Porter.
Francis inclinou a cabeça, dizendo:
— Também quero isso. Quero que Ellen fique boa.
Charles quase gostou dele, naquele momento.
— Então, está combinado. Antes que eu concorde com qualquer ação judicial, consultaremos o Dr. Cosgrove. Acatarei a opinião dele. — Olhou para os dois médicos e perguntou: — Alguma objeção?
— O Dr. Cosgrove não tratou da Sra. Porter durante todos estes meses — declarou o Dr. Lubish. — Mais de um ano. Tenho certeza, então, de que nossa opinião é melhor do que será a dele.
— Veremos — disse Charles. Virou-se para Francis: — Ellen precisa ser examinada pelo Dr. Cosgrove. Se seus filhos se opuserem... — aqui ele abriu as mãos — o caso irá a julgamento. Cuidarei disso. — Acrescentou, como que falando consigo mesmo: — Acabo de ver uma peça: King Lady. Talvez Ellen esteja na mesma situação. Veremos. — Tocou nos papéis sobre a escrivaninha e continuou: — Quanto a estes depoimentos, alguém... ou várias pessoas vão sofrer por isso. Ficará por minha conta, depois que o Dr. Cosgrove tiver dado sua opinião. — Charles sorriu. — Creio que os juizes não gostam muito de perjúrio, nem de mentiras.
A saída do grupo pareceu uma fuga. Só Wainwright ficou por mais um momento. Disse ao colega:
— Escute aqui, Charles. Estou muito preocupado com tudo isso. Você acredita realmente que se trata de trapaça?
— Sem a menor dúvida. E pretendo provar isso no tribunal... se chegarmos a esse ponto. Quero poupar a pobre Ellen. Sua personalidade é muito frágil e ela é uma mulher amorosa e confiante. Um processo, a duplicidade dos filhos... provavelmente a matariam. Ela acredita que os filhos a amam. São tudo o que ela tem, agora. Os dois jovens pensaram que ela não teria que se apresentar no tribunal, “devido ao seu estado”. Estou começando a acreditar que a maioria dos filhos é uma praga... isto é, quando o dinheiro está envolvido. Jeremy tinha razão. Quando desconfio de certos filhos, aconselho os pais:
“Deixem seu dinheiro para escolas, colégios e instituições de caridade e façam com que seus filhos saibam disso. Assim, pouparão a vocês mesmos muitos sofrimentos e muita tristeza... e talvez estejam salvando a própria vida”.
Wainwright refletiu, depois inclinou a cabeça e teve um sorriso azedo.
— Eu mesmo vi muita coisa assim. Você me aconselha a abandonar o caso?
Houve um aperto de mãos, em despedida, e Charles respondeu:
— Só depois de conhecermos a opinião do Dr. Cosgrove. Ele o convencerá, você verá. Depois você precisará dizer aos filhos de Ellen por que motivo abandonou o caso.
Depois que o advogado saiu, Charles virou-se para Jochan e perguntou:
— E então?
Jochan sacudiu a cabeça. Com seu sorriso doce e divertido, respondeu:
— Querida Kitty! Querida, querida Kitty! Ela sempre odiou Ellen. Ouvi dizer que estava de olho em Francis Porter. Isso, agora, talvez seja a sua vingança. Mas daremos um jeito, não é?
— Sem a menor dúvida — respondeu Charles. — Por falar nisso, você tem alguma força sobre Kitty, aquele amorzinho?
— Pois bem, estou lhe pagando alimentos, além do que ela recebeu na ocasião do divórcio. Claro que, se ela fosse condenada por perjúrio, ou difamação, ou conspiração...
— Acho que você deveria ter uma conversa com a querida Kitty. Isto é, depois que o Dr. Cosgrove tiver examinado Ellen. Não creio que Kitty gostaria de ir para a prisão.
— E nem, tampouco, os pobres criados de Ellen. Charles, acho que logo vamos ficar muito ocupados.
Naquela noite, Charles contou tudo a Maude e ela ficou tremendamente agitada.
— Acalme-se, querida. É um caso comum... quando o dinheiro está envolvido. Que foi que você disse?
— Creio que vou consultar o Padre Reynolds. Ellen precisa, no mínimo, de conforto. Você não lhe vai contar sobre os filhos, vai?
Charles refletiu.
— Não. Isso a mataria. — Chamou sua filha e contou-lhe tudo, confidencialmente. Perguntou: — Você sabe de alguma coisa, Genny?
A moça ficou desconcertada. Depois, respondeu:
— Papai, Christian me disse, muitas vezes, que sua mãe é louca. A princípio não liguei muito para isso, mas agora ligo. Que monstro! E você pensou que eu estava apaixonada por ele! Como é que pôde ser tão tolo?
Charles beijou-a, dizendo:
— Todos os pais são tolos... a respeito dos filhos.
A moça não notou a expressão sombria do rosto do pai. Charles disse a si mesmo: “Quando se trata de dinheiro, nenhum homem é inocente. Principalmente os filhos”. Ele deixara em testamento para a filha apenas uma pequena renda vitalícia. Não acreditava em fortuna herdada.
Capítulo 39
Francis disse a Christian e a Gabrielle: — Acho que não nos devemos preocupar. O Dr. Lubish terá uma conferência com o Dr. Cosgrove...
— Ele poderá ser influenciado? — perguntou Christian, que era muito menos perspicaz do que a irmã. Gabrielle deu-lhe um pontapé no tornozelo.
— Influenciado? — perguntou Francis.
— Ele quer dizer: será que o Dr. Cosgrove estará disposto a examinar mamãe e a testemunhar no tribunal? — respondeu Gabrielle.
— Claro que sim — declarou Francis, fervorosamente.
Os dois jovens o fitaram com olhos contraídos, onde havia uma expressão maliciosa.
— Não temos outra alternativa — disse Francis. — Charles Godfrey nos deu um ultimato. Ele lutará nos tribunais e chamará grandes psiquiatras (e os psiquiatras muitas vezes discordam, diante do juiz) ou faremos com que Ellen seja examinada em particular pelo Dr. Cosgrove e teremos que nos conformar com a opinião dele. É um grande médico. Já o ouvi, no tribunal, algumas vezes.
Gabrielle passou a língua delicadamente pelo canto dos lábios.
— Então teremos que convencer nossa querida mamãe a ser examinada por mais um médico — disse ela. Ficou refletindo por alguns momentos. O Dr. Lubish e o Dr. Enright tinham lhe assegurado que não haveria “nenhum problema” com Charles, ou poucos, na pior das hipóteses. Os dois psiquiatras tinham boa reputação e eram muito respeitados. Agora surgira esse contratempo por causa daquele maldito Charles Godfrey!
— E se o Dr. Cosgrove discordar dos outros médicos, Francis?
Francis estava sendo sincero.
— Duvido. Sua pobre mãe está, evidentemente, sofrendo das faculdades mentais. Até um leigo pode ver isso; até mesmo os criados. Kitty Wilder, que a conhece desde mocinha, notou a terrível mudança que se operou nela.
— Querida tia Kitty — disse Christian, sombriamente. — Observei o velho Jochan quando o nome dela foi pronunciado. Quase riu alto Posso imaginá-lo como testemunha contra ela, apesar do fato de tia Kitty ter pedido o divórcio. Todo mundo sabe das travessuras de nossa querida titia na cama, com vários homens.
Francis ficou chocado.
— Como é que você pode dizer isso da melhor amiga de sua mãe? — perguntou. Mas via-se que estava abalado.
— E se Cosgrove discordar de nossos psiquiatras? — perguntou Gabrielle, novamente. — Sabem... é uma possibilidade. Precisamos estar preparados para isso.
— Então, teremos que chamar mais um — disse Francis.
Os dois jovens o olharam cinicamente. Sabiam o que sabiam, mas o mesmo não acontecia com Francis, aquele maldito inocente.
— Pois bem, podemos tentar — disse Christian. Estava muito desanimado, zangado, cheio de ódio e, acima de tudo, frustrado. Até Gabrielle, sempre tão animada, tinha um ar lúgubre.
Foram procurar Ellen e tiveram dificuldade em atrair sua atenção. Sabiam que os médicos a mantinham sob a ação de fortes sedativos “para acalmá-la”. Sentindo cheiro de bebida e franzindo o nariz, Gabrielle disse:
— Mamãe, seus médicos não a estão ajudando muito. Resolvemos consultar outro. Você vai nos ajudar, não vai?
Ellen ficou ligeiramente alarmada; depois sorriu afetuosamente.
— Claro que sim — disse. Franziu a testa, como que perplexa. — Mas sinto-me muito melhor... algumas vezes. Durmo muito bem.
Gabrielle e Christian tinham pensado em convencer Ellen a recusar-se a receber o Dr. Cosgrove, mas depois refletiram melhor. Charles Godfrey dera claramente a entender que faria uma petição para que fossem ouvidos outros médicos; o juiz, naturalmente, consentiria. Depois que conseguiram persuadir Ellen a ver o Dr. Cosgrove, telefonaram-lhe, discretamente. Mas o médico se recusou a receber os dois irmãos.
— Quero formar minha própria opinião — disse, ao telefone, numa voz profunda e calma. — Trata-se de um assunto muito sério, Srta. Porter. Recuso-me a permitir que tente influir em minhas conclusões. Dou-lhe a minha garantia de que, se achar que sua mãe precisa ser internada, recomendarei esta medida. Não, agora não quero ouvir o que o Dr. Lubish e o Dr. Enright disseram. Sei, entretanto, que eles têm excelente reputação. — Ele não acrescentou que sabia de tudo a respeito da clínica particular do Dr. Lubish.
No escritório de Charles, o Dr. Cosgrove explicou:
— Não há necessidade de dizer tudo o que você sabe. Sim, eles são realmente psiquiatras e não charlatães.
— Que é que você sabe a respeito deles, em particular, George?
O médico deu uma piscadela. Era um homem baixo, muito alegre, de rosto rosado e olhos cinzentos e inteligentes.
— Todo homem tem seu preço. Basta eu dizer-lhe isso? Depois de examinar a Sra. Porter, irei falar pessoalmente com eles. — O Dr. Cosgrove ficou sério. — É bem possível que a Sra. Porter precise ser internada. Neste caso, Charles, concordarei com meus nobres colegas.
Sabiamente, Gabrielle “vestiu” a mãe para a consulta com o Dr. Cosgrove.
— Você precisa ter a melhor aparência possível — disse ela. — Não quer que nos envergonhemos de você, não é? Isso, querida. Está maravilhosa. — Gabrielle aplicara uma camada de ruge no rosto estragado de Ellen e pintara os lábios secos com uma camada grossa de batom. Encrespara os cabelos desbotados da mãe e colocara-lhe no alto da cabeça um chapéu novo, juvenil. Comprara para Ellen um vestido de um vermelho vivo, tão justo que as costuras davam impressão de que iriam abrir-se. A saia era escandalosamente curta. Ellen protestara fracamente; até ela podia ver, no espelho, o ridículo de uma velha vestida daquele jeito. — Você está ótima! — exclamou Gabrielle, afastando-se para olhá-la e batendo palmas, com ironia. — Parece dez anos mais jovem! — Ficou séria e acocorou-se diante de Ellen. — Agora, mamãe, vai ser boazinha... e franca... com o Dr. Cosgrove, não é? Vai contar-lhe tudo, para que ele possa ajudá-la. Vai falar-lhe de seus sonhos horríveis, dos esquecimentos, dos pesadelos e da falta de apetite. Vai contar-lhe que acha que papai está a seu lado o tempo todo...
— Mas ele está, querida — disse Ellen, com voz fraca.
Gabrielle inclinou a cabeça.
— Muito bem. Não se esqueça de contar isso ao médico e que você conversa com papai o tempo todo. Promete?
— Prometo.
— E vai falar-lhe também daquela bebida horrível, não vai?
Ellen corou sob a camada de ruge, mas disse, humildemente:
— Sim, quero muito ficar boa, querida.
Como o Dr. Cosgrove dissera que não queria que os filhos de Ellen a levassem ao seu consultório, o próprio Francis a acompanhou. O médico ocultou sua preocupação quando viu Ellen, pois ela não lhe dirigiu a palavra, nem tomou a mão que ele lhe estendera. Mas disse, com vivacidade:
— Está com muito boa aparência, Sra. Porter. Este... hum... vestido e o chapéu lhe assentam bem. A senhora sabe fazer suas compras.
O medo que Ellen sentia de estranhos a abandonou.
— Eu não comprei estas coisas. Foi minha filhinha... Gabrielle. Ela... também pôs esta pintura no meu rosto.
O Dr. Cosgrove inclinou a cabeça. Desconfiara disso. Francis, então, disse, secamente:
— Acho horrível, doutor. Ellen, em geral, não usa pintura nem pó-de-arroz. Nunca a vi assim. Suas sobrancelhas não são pretas e nem desgrenhadas. E o vestido e o chapéu são horríveis. Fazem com que pareça uma palhaça.
Ellen encarou-o e seus olhos apagados tiveram um brilho súbito.
— Minha filha entende mais disso. Francis... vá-se embora... por favor.
Sua respiração estava pesada e ofegante. O Dr. Cosgrove, que estivera preparado para não ter muita pena de Francis, agora teve. Charles lhe contara muita coisa.
— Ele é um fanático, George. Um desses idealistas de coração puro. Mas você com certeza tem lido a respeito deles nos jornais. Vou deixar que forme sua própria opinião.
Francis foi para a sala de espera e o médico notou o alívio vago, mas pungente, de Ellen. Ele fê-la sentar-se numa cadeira, gentilmente. Sentou-se diante dela. Viu-lhe as mãos cruzadas fortemente, notou o medo naquele pobre rosto, percebeu que ela se encolhia. Ellen passava a língua nos lábios pintados. “Ela deve ter sido uma beleza”, pensou o médico. “Vê-se pelo esqueleto, pelos vestígios de seu antigo colorido. Foi destruída, talvez deliberadamente. ”
Sorriu-lhe, com um sorriso quente e generoso. Ellen pensou, vagamente, que ele se parecia com um Papai Noel sem barbas. O médico balançava-se de leve na cadeira, ainda sorrindo. Mas, no íntimo, ficara estarrecido. Ellen estava, obviamente, muito doente, pelo menos no que dizia respeito ao físico. Pescoço branco e enrugado; mãos manchadas, mais do que se esperaria de sua idade; pele seca e doentia; seios informes; boca trêmula. Ela piscava constantemente. Olhou para ele, amedrontada.
— Este verão foi dos mais quentes, não é mesmo? A senhora não se importa com o calor, Sra. Porter?
— Não. Sim. — Ela caiu de novo num estado de apatia. — Eu... não notei. Não saio muito. Não me lembro da última vez em que saí de casa.
Na voz dela ainda havia vestígios de uma voz melodiosa.
— Pois bem, não a critico por não sair muito. Diga-me, trouxe os remédios que o Dr. Lubish lhe receitou?
— Ninguém me avisou para trazê-los — respondeu ela. Mas o Dr. Cosgrove dissera claramente a Gabrielle, pelo telefone, que fizesse a mãe trazer os medicamentos. O sorriso vivo do médico tornou-se maquinai. — Eu tomo uma porção de comprimidos — acrescentou Ellen, como que se desculpando. — Azuis, brancos, amarelos, cor-de-rosa...
— Com uísque, também — disse o Dr. Cosgrove, com naturalidade.
De novo o rosto de Ellen corou sob a pintura. Mas ela viu que o médico não a criticava.
— Sim... O Dr. Lubish disse que me faria bem. Chegou mesmo a receitá-lo, para que eu pudesse adquirir uísque legítimo.
“Ela parece ter sessenta e cinco ou setenta anos”, pensou o Dr. Cosgrove, contraindo os lábios. “Pois bem, veremos.” Tocou a campainha, chamando a enfermeira, e levou Ellen, que recomeçara a tremer, para a sala de exame. Ela olhou à volta, com um ar de desamparo.
— Que é que está procurando, Sra. Por ter? — perguntou o médico, com compaixão.
— Ora... ora... A sala de vestir e o roupão.
— Para quê?
— Os outros médicos... me examinavam... todas as vezes.
“Ah!”, pensou o Dr. Cosgrove.
— Vamos dispensar isso, Sra. Porter. A senhora já foi suficientemente examinada. Mas vou tirar sua pressão arterial e examinar principalmente seus olhos. — Ele notara as pupilas contraídas. Acrescentou: — Depois conversaremos.
— Conversaremos? — repetiu Ellen, com voz trêmula. — Já disse tudo aos outros médicos. Eles podem contar-lhe.
— Não. Conte-me a senhora. Eu farei as perguntas. — Viu uma expressão de terror no rosto dela. Inclinoq-se para Ellen. — Não tenha medo de mim. Sou seu amigo. Acredite-me, sou seu amigo. Ninguém irá feri-la, nunca mais. Prometo-lhe isso.
Esperou que ela falasse. Ellen começou a relaxar. Tentou mesmo um sorriso de causar dó. O médico inclinou a cabeça e tocou na mão dela. A dele era quente e firme e de repente Ellen confiou naquele homem, como jamais confiara no Dr. Lubish. O Dr. Cosgrove falou-lhe em voz calma e suavizante e os olhos da paciente se encheram de lágrimas. Ellen começou a chorar, mas o médico não a repreendeu, como o Dr. Lubish fazia, invariavelmente.
— Quero o meu marido... Jeremy! — exclamou Ellen, torcendo as mãos.
— Claro que quer, Ellen, claro que quer. Isso é mais do que natural. Sou viúvo, há doze anos. E ainda quero minha mulher. Ela ainda é minha mulher. E acredito piamente que um dia ela e eu nos encontraremos de novo. Assim como a senhora se encontrará com seu marido.
Duas semanas mais tarde, em seu escritório, Charles disse:
— Pois bem, você não me contou nada, a não ser que pôs Ellen no hospital, com enfermeiras particulares e com a proibição de receber visitas. Como conseguiu isso, não sei. Em todo o caso, meus parabéns.
— Tive uma boa ajuda — respondeu o Dr. Cosgrove. — Aquele fanático, o precioso marido de Ellen. Você tinha razão. Ele se importa sinceramente com ela. Tenho pena do pobre homem. Está arrasado; quer que a mulher fique “boa”, conforme se exprime. Nunca discute minhas ordens. Afinal de contas, graças a Deus, como marido ele tem prioridade sobre os filhos neste ponto, pelo menos legalmente. Aparece mesmo no hospital, bem tarde, para ver se minhas ordens estão sendo cumpridas. Os filhos de Ellen não têm permissão de visitá-la. Claro que têm atormentado Francis. Mas ele fica firme, repetindo o que eu lhe disse. E as enfermeiras que arranjei são verdadeiros granadeiros. Boas mulheres. Contei-lhes algumas coisas e elas compreenderam. Já viram coisas semelhantes, infelizmente.
— Que é que você diz a Ellen, quando ela faz perguntas sobre os filhos?
— Digo-lhe que os avisei de que ela precisa de calma e ficar só durante algum tempo e que eles concordaram comigo. Que Deus a ajude, com filhos como aqueles! Estou satisfeito por não ter nenhum; não me arrependo. Este caso não é uma exceção. Já tratei de outros semelhantes.
Aceitou o drinque que Charles lhe ofereceu e ficou refletindo. Sua expressão se tornou sombria.
— Ela estava sendo drogada sistematicamente. Tem alguns sintomas de retraimento, mas isso é inevitável. Mas não é alcoólatra. Permito que tome um ou dois drinques diariamente e isso a acalma.
— Drogada! — exclamou Charles. — Eu desconfiava disso, mas não tinha provas.
O médico fez uma careta.
— Há outra coisa. Não tenho provas, a não ser pelo estado de Ellen. Não posso acusar aqueles dois safados de coisa alguma, no tribunal. A lei exige provas. Na pior das circunstâncias, eles podem alegar que receitaram o que acharam melhor para ela... e quem poderia contradizê-los? Podem até jurar que receitaram apenas sedativos fracos, para os nervos e para o histerismo de Ellen... e quem provaria o contrário? Afinal de contas, eles têm uma excelente reputação e os juízes os respeitam. Pedi ao Sr. Porter que levasse ao meu consultório todos os remédios da esposa e ele, inocentemente, levou um vidro de aspirina, um de Bromo Seltzer e outro de um sedativo muito fraco. Disse que não havia mais nada nos aposentos dela e acredito nisso. Mas quem é que pode dizer quem os tirou? Estamos em terreno perigoso. Minhas acusações, minhas verificações e minhas suspeitas de nada valeriam sem provas concretas.
— George, você poderia ter chamado outro psiquiatra.
O médico teve um sorriso torto.
— A fraternidade médica é solidária. Não queremos saber de escândalos sobre os colegas. A Associação Americana de Medicina não gosta disso. O público precisa ter confiança em seus médicos. Compreendo esse ponto de vista. Isso, depois que um amigo me alertou.
— Diacho! — exclamou Charles.
O Dr. Cosgrove encheu o cachimbo calmamente.
— Oh, não sei. Recebi uma visitinha de Lubish e de Enright. Compreendemo-nos sem discutir. Eu disse os nomes das drogas que achava que eles estavam dando a Ellen e insinuei que tínhamos achado alguns vidros esquecidos, escondidos. Lembrei-lhes certas regras da ética... Pois bem, para ser breve, eles deixaram de tratar de Ellen e não mais a verão.
— Não diga! — exclamou Charles, encantado. Depois, já não se mostrou tão alegre. — Está certo. Agora Ellen está segura no hospital. Mas que acontecerá, quando receber alta? Seus filhos poderiam pegar outros médicos como aqueles dois e começar tudo de novo. Ela confia plenamente neles e, conforme você disse, que Deus a ajude e ajude outras mães iguais a ela.
O Dr. Cosgrove não se perturbou.
— Não vamos atravessar a ponte antes de chegar a ela. — O médico era tão pouco original quanto Charles, quando se tratava de metáforas. — Tive também uma longa conversa com Francis Porter. Ele escreveu uma longa carta (ditada por mim) para Gabrielle e Christian e preveniu-os de que, como marido de Ellen, os proíbe terminantemente de visitá-la sem permissão dele. Foram também avisados de que não deverão chamar nenhum outro médico para a mãe sem uma ordem minha, escrita. Por falar nisso, Wainwright recebeu uma cópia desta carta e tenho outra cópia aqui. Ele abandonou o caso.
Charles reclinou-se na cadeira, com expressão feliz.
— Você esteve ocupado, não esteve? Então Ellen está segura, por algum tempo. Mas você não me falou de seu estado.
— Está profundamente subnutrida. Estamos obrigando-a a comer, dizendo-lhe que, se não cooperar, causará muita tristeza aos filhos. Alegro-me por dizer que houve uma melhora, apesar dos antigos e continuados sintomas de retraimento. Esperamos que ela fique desintoxicada dentro de uma semana. As enfermeiras levam-na para o solário, para o pavilhão, para passeios a pé, todos os dias, apesar dos protestos dela. Mas está mais calma. Repito-lhe, constantemente, que seu falecido marh do ficaria muito zangado se soubesse que ela nos está opondo resistência. Disse às enfermeiras que a encorajem a falar o mais possível. — O médico suspirou. — Um amor como o dela é assustador. Jamais encontrei, em mulher alguma, tanta dedicação e tanta paixão. Ninguém deveria amar desse jeito. É fatal para quem ama. A verdade é que você me disse que ela nunca teve mais ninguém. Ellen nunca se recuperará disso. Mas, pelo menos, espero que logo ela venha a aceitar o inevitável, como já começara a aceitar, até casar-se de novo, conforme você me disse.
— Então acha que poderá curá-la, George?
O médico hesitou.
— Em casos raros, como o de Ellen, não há uma cura completa para o amor. Mas descobri que ela é muito corajosa, que tem uma reserva oculta de fortaleza. Duvido que algum dia esqueça, mas, pelo menos, aprenderá a suportar. Gostaria que ela fosse religiosa.
— Era, até Jeremy ser assassinado.
— Ah, era?... Fico imaginando se haverá meio de fazer com que ela volte à religião. Seria uma grande ajuda.
Charles falou da sugestão de Maude e o médico ficou animado.
— Em todo caso, deixemos que o reverendo tente. Mal não fará e pode fazer muito bem. Se ele tiver tato.
— É um padre idoso, tem tato, e os padres antigos são muito sensatos, George — disse Charles. — E quanto ao pobre Francis?
— Aí está um outro caso triste. Aconselhei-o, o mais delicadamente possível, a não procurar vê-la durante muito tempo, até ela receber alta do hospital.
— Receio que o casamento de Ellen com Francis tenha precipitado o estado em que ela se acha.
— Sim. Trataremos disso oportunamente. Ela não é psicopata, embora seja neurótica, o que não é de admirar, considerando-se sua vida. Pensei em pedir a Francis que se separe da esposa, mas depois me lembrei dos filhos dela. Eu lhe disse, então, que, embora seja melhor que ele não a veja por um longo tempo (para que ela não tenha consciência da presença do marido em casa) ele precisa protegê-la. Dos filhos. Nesse ponto, tive que discutir com ele, diplomaticamente. Francis acha que os filhos são dedicados à mãe. Ficou chocado e não muito convencido. Eu então lhe disse que é possível que eles levem outros médicos à casa de Ellen para vê-la, com a melhor das intenções, é claro, ou que a queiram levar ao consultório de algum e que isso talvez ocasione uma recaída fatal. Francis é realmente uma alma simples, apesar de sua loucura ideológica. Ele, sim, é psicopata. Você sabia disso?
— Sabia. Há um velho ditado: “Quem guardará a cidade, quando os guardas são loucos?” Pois bem, há uma linha divisória muito pequena entre a sanidade e a loucura, como você bem sabe. Às vezes essa linha desaparece. Todos nós de vez em quando somos loucos. Mas homens como Francis Porter nunca são completamente sadios mentalmente. Ainda bem que temos uma força sobre ele. Francis ama a esposa e o amor é o melhor dos guardiães.
Charles ficou emocionado, pensando em sua própria esposa. Depois, disse:
— Jochan Wilder convenceu sua ex-esposa, Kitty, a sair dos Estados Unidos para um longo cruzeiro, ou coisa semelhante. Ela não irá mais aborrecer Ellen.
O Dr. Cosgrove tinha certeza disso.
— Seja como for, mais tarde tomaremos uma decisão. Até lá, espero que Ellen esteja curada fisicamente; uma boa saúde ê, em si, uma excelente proteção contra os canalhas. — O médico suspirou: — Quanto mais conheço os homens, mais triste vou ficando. Somos todos filhos de Caim. O assassínio é nosso familiar.
Capítulo 40
Charles chamou Gabrielle e Christian ao seu consultório “para uma conferência”.
Olhou para os dois com ódio e expressão acusadora.
— Não preciso de rodeios. Vocês foram avisados por seu antigo advogado, Wainwright, de que, se tentarem de novo ferir sua mãe, ouvirão falar dele e a ética que vá para o inferno! Acima da ética, há a preservação da vida inocente de outra pessoa, que está em perigo por causa de inimigos mortais. Vocês dois são inimigos mortais de sua mãe. Mais uma tentativa de um de vocês... e contarei tudo a Ellen. Eu a aconselharei, eu a forçarei mesmo, se necessário, a fazer outro testamento, deserdando-os completamente. Completamente. É esta a única coisa que vocês entendem, não é? Dinheiro.
Christian não fingiu ficar admirado, nem consternado. Sorriu venenosamente para Charles.
— Um novo testamento pode ser contestado. Ela é louca.
— Você gostaria de acreditar nisso, não é? Mas Ellen não é nada louca. É verdade que ela foi levada até o limiar da loucura... por seus próprios filhos. Seus queridos, bem-ama- dos filhos. Malditos sejam! Se me pressionarem, se de novo forem longe demais, moverei uma ação contra vocês. Não sorria, Christian. Lubish e Enright, em defesa própria, testemunharão que sua mãe nunca foi psicopata e que vocês dois, e outros, lhe mentiram sobre ela. Vocês fizeram depoimentos escritos, cheios de mentiras. Sabem qual é a pena para o perjúrio, no Estado de Nova York? Multa e prisão por cinco anos.
Charles reclinou-se na cadeira e observou-os sombriamente. Os sorrisos dos dois eram fixos e maquinais, mas depois desapareceram. Charles continuou:
— Desejo sinceramente que vocês tentem alguma coisa contra ela. Assim eu poderia fazer com que recebessem o que merecem. Por falar nisso, Christian (que nome lhe deram!), você trabalha na Fundação Rogers. Sei de tudo a respeito deles. Não querem saber de escândalos com seus empregados. São homens muito discretos, para não dizer sinistros. Não querem que a atenção do público se volte para eles; se você fizer isso, perderá seu lugar como “secretário-correspondente”, como dizem vocês. E eu o seguirei até o fim de minha vida. Pode acreditar nisso. — Virou-se para Gabrielle, que o fitava com ódio indisfarçável. — Você não parecerá tão elegante, Gabrielle, depois de cinco anos na prisão, condenada por perjúrio. Não estou apenas fazendo ameaças, podem crer-me. Para dizer a verdade, se não fosse por causa de sua pobre mãe, eu gostaria de vê-los na prisão. Por causa dela, estou, temporariamente, evitando o que eu adoraria fazer. Ainda mais: na confraria médica, há sempre um meio de um caso ser conhecido. Vocês não conseguiriam subornar mais um psiquiatra para “tratar” de sua mãe e procurar interná-la. Isso é crime. Acho que a lei considera isso mais odioso do que o próprio perjúrio. Não encara com simpatia o matricídio e é isso o que vocês tentaram. Matricídio.
Charles levantou-se e prosseguiu:
— Agora, retirem-se de meu escritório, antes que eu os enxote. Lembrem-se do meu aviso.
Os dois jovens saíram sem uma palavra. Charles sentia-se mal. Teve que tomar uma bebida forte. Ganhara a parada. Mas quanto tempo duraria a vitória? Assassinos como os filhos de Ellen sempre encontrariam outro meio de agir. Charles engasgou com a bebida.
— Malditos! — disse, em voz alta.
Naquela tarde quente e dourada de setembro, o Dr. Cosgrove entrou na suíte pequena do hospital onde Ellen estava. Encontrou-a na saleta, sentada, vestindo um roupão de seda azul que lhe ia muito bem. Ela perdera muito do inchaço do corpo e do rosto, e suas feições agora eram serenas, embora tristes. O brilho azul dos olhos voltara pouco a pouco; os cabelos, bem cuidados * e bem escovados, estavam readquirindo o brilho antigo. Havia mesmo um pouco de cor em seus lábios; as mãos eram de novo brancas e macias. Parecia ter rejuvenescido. Quando viu o médico, sorriu timidamente, mas confiante.
— Muito bem, como está bonita, hoje! — disse o Dr. Cosgrove. Agora eram tão bons amigos que Ellen ficava grata quando ele lhe beijava a face. O médico apertou a mão da paciente. — Veja o que lhe trouxe. Uma garrafa de Dom Périg-non... champanha. É meu aniversário e achei que você gostaria de celebrá-lo comigo. — Virou-se para a enfermeira que tricotava, sorridente, sentada numa cadeira. — Quer fazer o favor de ir buscar um balde com gelo? — O médico sentou-se perto de Ellen e olhou-a com orgulho.
— Quando é que meus filhos poderão vir visitar-me, George? — perguntou ela.
— Oh, logo, se você continuar a melhorar assim. Como vai o apetite?
— A Srta. Hendricks, minha enfermeira, diz que está muito bom.
A expressão triste do rosto de Ellen se acentuou.
— Que é que você tem, Ellen? — perguntou o médico.
Ela virou o rosto e respondeu:
— Não sei por que estou vivendo; não tenho, realmente, vontade de viver. Ninguém precisa de mim, nem mesmo os meus filhos, pois agora são adultos. Sou inútil. Que é que existe para me prender à vida?
— Você sempre viveu para alguém, não é? Não sabe que o primeiro dever de uma pessoa é para com ela mesma? Você, Ellen Porter, tem individualidade própria; Deus a fez assim. Ele teve uma razão para dar-lhe a vida e não foi para apenas servir os outros. Você diz que ninguém precisa de você. Deus precisa. Você não pode viver apenas através dos outros, Ellen querida. Não pode considerar a realidade dos outros como sua. Tem sua própria realidade, Ellen. O mundo é belo, apesar das pessoas que o habitam. Você precisa saber conhecê-lo e aproveitá-lo.
Ellen moveu-se, inquieta, na cadeira. O médico deu um tapinha no seu próprio joelho, dizendo:
— Tenho um amigo aí fora, esperando. Um grande amigo. Gostaria que você o conhecesse.
Ela contraiu-se, alarmada.
— Um estranho? Oh, não, por favor.
— Você me decepciona, querida. Pensei que já tivesse vencido seus receios tolos. Ele está aqui para celebrar meu aniversário, com você. Permite que ele entre, por minha causa?
Ellen ficou em silêncio por alguns instantes. Empalidecera. Depois, disse:
— Sim, por sua causa, George.
Mas seus lábios tremiam e ela olhou para a porta fechada, com certa excitação. O médico saiu do quarto, tornou a fechar a porta e abriu-a quase em seguida. Ellen olhou para o desconhecido e ficou admirada. Era um velho, quase completamente calvo, de rosto bondoso e enrugado. Ela percebeu imediatamente que era um padre. Ficou visivelmente relaxada. Um padre não seria uma ameaça.
— Padre Reynolds, esta é a Sra. Porter, minha paciente. Ela vai ajudar-me a festejar meu aniversário. — Virou-se para Ellen. — Para dizer a verdade, é o aniversário dele, também.
O padre se divertiu com isso, intimamente. Ergueu as sobrancelhas brancas e o médico piscou para ele. O padre pegou a mão de Ellen e imediatamente sentiu compaixão, pois os dedos dela tremiam. A paciente sorriu timidamente, sem nada dizer. Tinha ficado resolvido que, como Ellen não confiava em Charles Godfrey, era preferível que o padre lhe fosse apresentado pelo médico, em quem ela confiava. O velho sentou-se e olhou para Ellen com uma atenção sincera, mas sorridente:
— É muita gentileza sua, Sra. Porter, deixar que George e eu... festejemos nosso aniversário em sua companhia. Não há muitas ocasiões na vida em que se possa realmente fazer uma celebração. Devemos aproveitá-las ao máximo, quando temos oportunidade, não é mesmo?
— Eu... não sei... padre. Acho que não tenho mais muita capacidade de celebrar coisa alguma. — A voz de Ellen, que recuperara algumas das antigas nuanças, estava trêmula. — Não tenho com quem celebrar.
O padre fitou-a, parecendo atônito.
— Como? Você tem Deus, minha querida! Tem também o sol e a lua, as estrelas e os jardins, as árvores e as nuvens... todas as coisas inocentes.
Ellen sorriu levemente.
— Nunca pensei nessas coisas como inocentes. Mas são, não são? Apesar de tudo, são insensatas.
— Quem lhe disse isso? Fazem parte de Deus, exatamente como nós. E por isso, por serem parte de Deus, percebem, com uma percepção diferente da nossa. Ninguém precisa ficar só, mesmo que esteja isolado do mundo dos homens. O mundo está cheio de amigos que formam quase um outro mundo, muito belo e diferente do criado pelo homem.
Ellen fitou o velho com um interesse que alegrou o Dr. Cosgrove.
— Nunca pensei nisso — disse ela. Hesitou, enquanto refletia. Seu rosto mudou de expressão. — Estou pensando em pessoas que conheci. Começo a compreender que nem todas eram boas, como a princípio julguei. Sei que o senhor vai achar que isso é falta de caridade de minha parte e talvez seja.
— Uma percepção da realidade não é falta de caridade, Ellen. Posso chamá-la de Ellen? Obrigado. Não ver as coisas claramente como são (e nisso estão incluídas as pessoas) é ser deliberada e tolamente cego. Não é falta de caridade. É também perigoso. Sou um velho; sou padre há quase sessenta anos. Conheci centenas de pessoas e ouvi milhares de confissões. Conheço a humanidade, conheço seus inúmeros crimes e pecados contra Deus e contra os homens. Sei que há no mundo poucas pessoas realmente boas e que é difícil encontrá-las. Quanto aos maus (e são uma legião), não devemos julgá-los. Devemos ter compaixão, mesmo reconhecendo o que realmente são. Compaixão não significa sentimentalismo ou auto-engano. Todos temos capacidade para o mal; isso faz parte da condição humana. O mal não é uma força; é fraqueza, uma violação contra nossa alma imortal e contra Deus. Assim, os fortes, os bons, deveriam ter pena dessas pessoas malformadas... e rezar por elas.
Ellen refletiu.
— Sempre me senti culpada, quando tinha pensamentos pouco caridosos em relação aos outros...
— Não há culpa em reconhecer a verdade. A verdade não somente torna uma pessoa livre, como pode pô-la em guarda e até mesmo salvá-la. Reconhecer a verdade não significa que devemos condenar os outros, embora a condenação às vezes seja justificada.
Ellen disse, em tom mais baixo:
— Há outra coisa: quando vejo as pessoas como são... (estou pensando em algumas que conheci ultimamente) fico deprimida... desesperada... e amedrontada. Acho que foi isso que deu início à minha... doença. — Ela sorriu com ar de desculpa. — Creio que a verdade também pode matar uma pessoa, não é?
O padre inclinou a cabeça.
— Keats estava errado quando disse que a verdade e a beleza são a mesma coisa. Às vezes uma exclui a outra. Mas deveríamos encorajar a nossa própria força, para que seja possível encararmos com fortaleza a pior das realidades. Podemos ser valentes. Para dizer a verdade... — o padre sorriu para Ellen de um modo cativante e continuou: — tive a pretensão de acrescentar outro mandamento aos dez: “Ser corajoso”. Só Deus sabe que muitos não são nada corajosos. É uma virtude que poucos possuem, mas que pode ser cultivada tanto quanto as outras.
— Acho que nunca fui corajosa — murmurou Ellen.
O padre e o médico entreolharam-se. O velho fora informado da vida de Ellen. Inclinando-se para ela, as mãos cruzadas nas pernas finas sob a roupa preta, disse:
— Só hoje a conheci, Ellen, mas de certo modo sei, com absoluta convicção, que você é uma das pessoas mais corajosas que conheci na vida.
Ela fitou-o, admirada.
— Eu?... Oh, o senhor está enganado, padre! Sempre tive tanto medo...
— O medo e a coragem (assim como a verdade e a beleza) não excluem um ao outro. Acho que somente aqueles que têm razão para temer são os verdadeiramente corajosos. Sua alma talvez tenha reconhecido essa razão, mesmo que você não a tenha reconhecido conscientemente.
Ellen sacudiu a cabeça lentamente. Agora havia lágrimas em seus olhos.
— Eu era muito corajosa, quando meu marido estava vivo. Agora não sou mais.
— Ouvi falar de seu marido, do primeiro, Ellen. Era um homem valente, além de corajoso. Você não o está decepcionando?
Os lábios de Ellen tremeram ao ouvir o padre usar o verbo no presente.
— Eu... não sei se ele... ainda vive, embora em meus sonhos... — Fez uma pausa e continuou: — Como posso ter certeza de que ele não está... morto... isto é, de que seu espírito não morreu?
— Pode ter certeza de que vive, porque a morte não existe. Isso é um fato científico, assim como uma verdade espiritual. Tudo muda, mas nunca morre. Os mares vêm e vão, mas nunca se perdem. Estrelas caem e perdem o brilho. Depois criam um novo brilho e uma nova vida. Tudo é apenas contemporâneo, Ellen. Nunca é passado. Sim, pois o presente, o passado e o futuro são uma só coisa. Você certamente já leu que o amor é imortal; nunca perece, pois tem uma força eterna. Você pode, portanto, ter certeza de que seu marido a amou e ainda a ama. Você pode imaginar-se não o amando, a ele?
A cor voltava ao rosto de Ellen. De repente ela pareceu moça, ardente, viva.
— Não, eu nunca poderia deixar de amá-lo. É maravilhoso pensar que talvez ele ainda me ame.
“Sem essa certeza, eu morreria”, pensou ela, subitamente.
— Só o pensamento de que ele talvez ainda me ame, como me amou um dia, faz com que minha vida... mereça ser vivida.
O padre teve um sorriso bonito e afetuoso.
— Ele a ama, Ellen, está à sua espera e sabe, mesmo que você não o saiba, que você, como ser humano, com alma, merece viver. Viver por você mesma, Ellen. Não somente ele sabe disso, como Deus também.
Ellen virou o rosto.
— Eu acreditava em Deus, mas, quando Jeremy foi morro porque era um homem bom e nobre, perdi a fé. .
— Muito triste — observou o padre. — Quando perdemos a fé, por causa de uma desgraça, quer dizer que, afinal de contas, nossa fé não era muito forte, não é?
Ela sorriu um tanto maliciosamente e o médico ficou alegre com isso. Duas covinhas surgiram em seu rosto.
— Vê como sou fraca, padre? Eu lhe disse que não era muito corajosa.
Com uma ênfase sombria, ele replicou:
— Ellen, sou padre. No meu coração sempre fui padre, mesmo em criança. Apesar disso, houve ocasiões em que minha fé vacilou. Uma ou duas vezes fiquei completamente perdido. Fiquei desolado, pois me afastara de Deus. Tendo-o conhecido, rejeitá-lo depois é o nosso inferno. Não podemos viver sem Ele, lembrando-nos da glória de nossa fé perdida e de que nos considerávamos filhos de Deus. Que coisa, neste mundo, poderia substituir a bênção de nosso conhecimento anterior?
Ellen pensou na doce serenidade de sua infância, quando tivera a fé total de uma criança, apesar das circunstâncias de sua vida. Lágrimas correram por spas faces.
— Pobres daqueles que nunca conheceram Deus — continuou o padre, segurando a mão de Ellen com firmeza. — Não acha que merecem nossa compaixão, nossas preces, nossa solicitude? Sim, pois que significa a vida de um homem sem a realidade de Deus? É um sonho, uma fantasia; é estéril e infrutífera. Quando tais homens pensam que conhecem a vida e sua efervescência, estão apenas vendo miragens no deserto. Aquilo que dá realidade a tudo não está ali. Os ateus não estão vivos; estão realmente mortos. A verdade é que nunca viveram.
As lágrimas de Ellen, que caíam sem que ela disso se apercebesse, mancharam seu roupão de seda. Mas o padre sabia que eram lágrimas salutares. Ergueu a mão e abençoou-a. Ellen não sabia o que ele estava fazendo, mas sentiu um estranho conforto, como se um pacto de amizade se firmasse entre os dois. Quando ele abaixou a mão, Ellen pegou-a, como uma criança, e ficou segurando-a, sorrindo através das lágrimas. O Padre Reynolds soube que não precisava prometer-lhe que rezaria por ela.
No corredor, disse ao Dr. Cosgrove:
— Ela é uma mulher bonita, tanto no físico como na alma. Tem uma personalidade frágil e delicada. Apesar disso, possui uma força interior. Isso não é um paradoxo. Precisamos ensiná-la a suportar as coisas, e ela tem capacidade para isso, embora não a exercite há muito tempo. Precisamos ajudá-la.
— Acho que Ellen já está exercitando sua coragem natural. Não tem mais os horríveis pesadelos que costumava ter. Então, podemos ter esperança.
Apesar disso, o Dr. Cosgrove, naturalmente alegre e otimista, tinha um terrível pressentimento. Sem saber exatamente o significado do que dizia, murmurou: “Que Deus a ajude”. Ele e o padre voltaram, sorridentes, para o quarto, para tomar champanha. Ellen riu, como não ria havia anos. Seu rosto rejuvenescera.
Capítulo 41
No dia 24 de outubro de 1929, Ellen teve alta do hospital. Charles Godfrey avisara os filhos dela:
— Finjam, como sempre o fizeram* que a amam e desejam ajudá-la. Se não fizerem isso... prometo que farei a vocês todo o mal que estiver a meu alcance.
Charles disse, mais tarde, a Francis:
— Não me intrometo, nunca, na vida de Ellen, Frank. Sei que você gosta dela. O melhor que tem a fazer é vê-la o mínimo possível. — Charles sentiu pena do homem que sofria visivelmente. — Não é culpa sua que isso seja necessário. Ela nunca esquecerá Jeremy. Sim, você pode ficar na mesma casa. Para ser exato, acho que é o que deve fazer. Ela precisa ser protegida dos filhos e você tem que guardá-la. Sei que não acredita o quanto eles são terríveis, mas eu sei.
— Ela está com tão boa aparência! Quando me viu pela primeira vez, há alguns dias, sorriu para mim, como costumava sorrir quando era moça.
— Está certo. Seja, para Ellen, o Sr. Francis da infância dela.
Enquanto Ellen estivera no hospital, Maude mandara embora a Sra. Akins e Joey, substituindo-os por empregados de confiança. Mandara limpar a casa e redecorá-la. A casa estava agora brilhante e fresca como no tempo de Jeremy, cheia de flores. Maude jogara fora as roupas velhas de Ellen e comprara vestidos novos e alegres. Ellen não sabia o que sua verdadeira amiga fizera, porque nunca a reconhecera como amiga.
Quando voltou para casa, Ellen notou a beleza e a frescura de tudo, parecendo-lhe sentir ali a presença de Jeremy. Sentiu conforto e paz. Perguntou aos filhos o que acontecera com a Sra. Akins e com Joey. Após relancear o olhar para o irmão, Gabrielle respondeu maciamente:
— Oh, eles não eram bons empregados, mamãe. Muito desleixados. Nós os substituímos. Acho também que andavam roubando.
Gabrielle e o irmão estavam fervendo de raiva e de frustração. Tinham esperado, ardentemente, que Ellen morresse no hospital, para deixá-los livres da presença dela e, acima de tudo, para que pudessem apossar-se da fortuna deixada pelo pai. Sempre a tinham desprezado e zombado dela, desde a infância. Agora a odiavam por ter remoçado e recuperado a saúde. Sua voz os enfurecia, por causa de sua força e de sua cadência, a voz que ela tivera como jovem esposa. Quando a mãe os beijava e os abraçava, eles tinham vontade de bater-lhe. Mas sorriam afetuosamente. Ellen se recuperara tanto que podia até apertar calmamente a mão de Francis, e o pobre homem ficava emocionado com isso. Ele pensava que, apesar do que o médico dissera, talvez Ellen esquecesse Jeremy e visse o segundo marido com afeição e bondade, como antigamente. Isso lhe bastaria; não pediria mais nada.
A Srta. Hendricks, enfermeira de Ellen, ficaria com ela durante uma ou duas semanas. Era uma criatura alegre e maternal e aprendera a gostar de sua paciente. Recebera ordens do Dr. Cosgrove e era sensata. Depois de falar com o marido e os filhos, Ellen foi levada para a cama, pela enfermeira.
— Precisamos descansar o mais possível. E todos os dias daremos um agradável passeio a pé, não é?... e talvez uma volta de automóvel. Iremos mesmo ver as novas fitas faladas; é extraordinário a gente poder ouvir a voz dos atores, na tela. Parecem ter mais vida.
— Sinto-me cheia de vida — disse Ellen, despindo-se e deixando que a enfermeira lhe enfiasse a camisola e a pusesse na cama. — Não acha que meus filhos são maravilhosos? Imagine Gabrielle ter tido todo este trabalho para substituir meu guarda-roupa, colocar estas flores aqui e mandar redecorar a casa! E todas aquelas plantas no jardim! É uma bênção ter tais filhos, não é, Srta. Hendricks?
— É, sim — respondeu a enfermeira.
Mas seu rosto se tornou sombrio por um momento. Estava contente por não ter-se casado e não ter filhos. Ellen sorria, feliz, e logo caiu num sono profundo e sereno. Gabrielle e Christian tinham ido para a Wall Street. Algo de consternador estava acontecendo lá e os dois estavam preocupados e apreensivos.
Tinham razão para isso. As notícias inquietantes haviam começado às dez horas daquela manhã. Era um dia frio e enevoado, mas apesar disso poeirento. As sombras não pairavam somente sobre a Wall Street, mas estavam na própria atmosfera. Para as pessoas perceptivas, era como se a terra estivesse sendo preparada para um horrível terremoto e os tremores reverberassem por todo o país, nos escritórios de todos os corretores. Lá pelo meio-dia, o tumulto se definira. Diziam que Charles E. Mitchel, do National City Bank, de Nova York, aparecera de repente na Wall Street, investindo milhões no mercado. A Standard Oil, de Nova Jersey, a Aluminum Corporation of America e a Bethlehem Steel Company, entre outras, entregaram milhões de dólares para cobrir os prejuízos das compras a termo. Lá pela uma hora, essas quantias tinham atingido a incrível soma de mais de setecentos e cinquenta milhões de dólares. Agora novos boatos corriam freneticamente e provaram ser verdadeiros. A General Motors vendeu vinte mil ações a 57,5; a Kenrecott Copper, vinte mil ações a 78. Os corretores falavam desesperadamente com seus clientes e as vendas continuavam precipitadamente. As ações da U.S. Steel, que um mês antes estavam cotadas a 261, caíram para 194.
Quem estava vendendo e por quê? Ninguém sabia, a não ser os homens silenciosos e mortais, como Jeremy os chamava. Estavam naquele dia reunidos entre quatro paredes no Comitê para Estudos Estrangeiros; mensagens em código lhes eram entregues de todas as partes do mundo. Eles sorriram friamente quando chegou a notícia de que Thomas W. Lamont tivera uma reunião com os principais banqueiros de Nova York e que tinham arranjado um “fundo” de duzentos e cinquenta milhões de dólares para estabilizar o mercado periclitante. Richard Whitney, da J. P. Morgan and Company, comprou vinte e cinco mil ações da Big Steel, a 205. Nesse meio tempo, ele comprou também grande quantidade de outras ações ao preço da última cotação. Houve um ressurgimento de esperança entre os corretores. Mas o telégrafo estava com cinco horas de atraso em todo o país e, quando finalmente suas mensagens frenéticas pararam, alguns fatos sinistros eram evidentes: fora estabelecido um recorde. Quase catorze milhões de ações tinham sido vendidas, com um prejuízo de quase doze bilhões de dólares. Isso jamais acontecera no mercado.
— Meu Deus, então Jeremy tinha razão, afinal de contas — disse Charles Godfrey a Jochan Wilder. — O planejado colapso econômico da América começou. Graças a seus conselhos, Jochan, vendi, nos últimos três meses, grande parte de minhas ações duvidosas.
Fez uma pausa e depois teve um sorriso tenso. Continuou:
— Há uma coisa que me causou grande prazer. Como administrador dos bens de Jeremy, vendi muitas de suas ações duvidosas e comprei títulos sólidos, de modo que os bens deixados por Jeremy, até agora, estão em boa situação. Mas meu maior prazer é pensar na fortuna deixada a Christian e a Gabrielle por seus avós. São ações realmente duvidosas e hoje desceram assustadoramente. Aqueles dois jovens ficarão quase na miséria, daqui a algumas horas, e eu poderia dançar de alegria. Claro que isso não afeta o que receberão da herança de Jeremy... — o sorriso de Charles desapareceu — depois que Ellen morrer.
Com seu sorriso simpático, Jochan disse:
— Os dois se recusaram a ouvir seus conselhos, Charles, e compraram as ações mais perigosas. Christian disse que você estava sendo pessimista demais. Pensou que teria um lucro de dois milhões, no fim deste ano, e sua irmã acreditou na mesma coisa. Imagino o que estarão pensando agora.
A alegria de Charles voltou e ele deu uma risada. De repente, ficou inquieto. A fortuna de Jeremy, bloqueada até a morte de Ellen, estava em ordem, embora naquele dia também, tivesse sofrido algumas perdas. Mas as ações e os títulos eram sólidos, embora tivesse havido uma depreciação de seu valor.
O capital estava intato, mas não era tão grande quanto na véspera. Ellen não poderia usar essas ações para salvar a fortuna particular dos filhos. Jeremy tomara precauções para que ela ficasse protegida. Somente após a morte da mãe é que os filhos poderiam entrar na posse dos bens. Após a morte de Ellen...
— Que aconteceu? — perguntou Jochan, vendo a expressão grave do amigo.
Charles contou-lhe. Jochan sacudiu a cabeça, sorrindo.
— Ora, vamos. Eles podem desejar a morte de Ellen, mas não podem fazer nada contra ela abertamente. O que eles fizeram não pode ser condenado nem mesmo pelas pessoas mais desconfiadas. Estavam apenas tentando “ajudar” sua pobre mãe, e chamaram psiquiatras conhecidos e respeitados. Eles não são tolos, Charles. Não vão arriscar-se. Não se deixe levar pela imaginação, amigo. Você os preveniu suficientemente e eles amam suas pessoazinhas. Você pensa realmente que talvez possam envenenar Ellen, ou estrangulá-la, ou dar-lhe um tiro? — Jochan riu. — São uma cadela e um canalha disfarçados e sem coração... Nunca mostrariam seu jogo abertamente. Seria por demais perigoso.
Charles refletiu, depois disse, meio encabulado:
— Claro que você tem razão. São uns canalhas sabidos. Mas... os canalhas mais frios, mais calculistas e mais cuidadosos podem ficar desesperados... e assassinar, quando sua fortuna está em jogo. Não tem importância. Provavelmente estou usando demais minha imaginação, minha imaginação de irlandês.
Ficou de novo inquieto; se ao menos Ellen confiasse nele! Se pudesse aproximar-se dela e falar-lhe como uma mãe realista, para preveni-la! Mas Ellen não confiava nele, amava os filhos apaixonadamente, não era realista, não acreditava totalmente na maldade humana, nem em suas maquinações terríveis quando era forçada a agir violentamente.
Charles pensou nos grandes financistas e banqueiros de Nova York que estavam comprando incríveis quantidades de ações e de títulos. Por que estariam fazendo isso? Para estabilizar o mercado, dar confiança a um país aterrorizado? Para encorajar mais compras entre os milhões de acionistas menores... até que estes ficassem arruinados? “Cá estou eu usando a imaginação”, pensou Charles. Mas agora tinha outra preocupação, maior do que as anteriores. “O doce perfume do dinheiro”, dissera-lhe Jeremy, certa vez. “Os homens perdem a cabeça, quando se trata de dinheiro. Não têm outro interesse.”
Quando acordou, depois da sesta, Ellen perguntou à enfermeira:
— Meus filhos vêm jantar hoje à noite?
— Não o creio, querida. Eles foram chamados à Wall Street. Qualquer coisa a ver com o mercado.
Ellen ficou decepcionada, mas disse, com vivacidade:
— Sim, li algo a respeito, na noite passada; boatos, nos jornais. — Lembrou-se depois de alguma coisa, com vago alarme. Que fora mesmo que Jeremy lhe dissera certa vez? “O derradeiro colapso da economia americana, planejado durante muito tempo, não tardará... Depois virão os tiranos e uma economia planejada e a escravidão do povo americano.” Ellen pensou na herança deixada a seus filhos pelos avós... Com certeza estava segura. Não pensou em sua própria renda, nem na fortuna de Jeremy, caso houvesse um colapso financeiro. Sua ansiedade cresceu, pensando nos filhos. Ah, bom, ela tinha dinheiro e, portanto, poderia ajudá-los. Ao pensar nisso, teve um pensamento inquietante, uma resistência que a alarmou. O Padre Reynolds visitara-a frequentemente no hospital, após a primeira vez: “Aquele que não se protege, até mesmo da própria família, torna-se desprezível e uma vítima. Não temos o direito de tentar os outros. ‘Não tentarás.’ Este é um outro mandamento que eu gostaria de acrescentar aos dez”. O padre sorrira, mas a expressão de seus olhos continuara grave.
Preocupada, Ellen vestiu-se para o jantar. Não compreendia a agudeza de seus pensamentos e esperou pela antiga condescendência e pela sensação de culpa. Sentiu-as; depois, estranhamente, elas desapareceram e Ellen sentiu uma força interior, uma vigilância que jamais sentira. Sorriu de leve e pensou: “Pois bem, temos que ajudar a família, não temos? Até certo ponto... sim. Mas, se eu não cuidar de mim mesma, por que haveriam eles de cuidar de mim? Se eu não me respeito, como poderei esperar que os outros me respeitem?”
Enquanto se vestia, olhou para o retrato de Jeremy. Ele pareceu sorrir-lhe e ela também sorriu. O terrível sofrimento de antes não voltou; agora ela sentia paz, tinha a convicção de que Jeremy ainda a amava e se interessava por ela, e que a proteção dele a envolvia. Acima de tudo, o amor de Jeremy era a sua segurança, uma proteção contra os males da vida.
Foi para a biblioteca, para tomar um cálice de xerez. Francis estava lá, olhando tristemente para o fogo da lareira. Roía as unhas e movia-se, irrequieto, na cadeira. Quando viu Ellen, levantou-se e fitou-a com uma esperança silenciosa. Ela admirou-se por não se encolher e não desejar fugir; percebeu mesmo que sorria. Francis notou o sorriso e esqueceu-se de todas as coisas terríveis que ele ouvira naquele dia e do fato de que, de repente, seus “amigos” lhe pareciam inacessíveis.
— Ellen? — disse Francis, esperançoso.
Ela sorriu-lhe novamente. Ali estava o Sr. Francis, o amigo de sua mocidade. Ficou triste por tê-lo julgado mal e por tê-lo afastado. Francis, para ela, não era um marido e sim o guardião de sua infância, aquele que fora bondoso com ela e a ajudara. Estendeu-lhe a mão e seus olhos azuis brilharam de alegria.
— Quer jantar comigo, Francis? — perguntou. — Eu teria prazer nisso.
Ele segurou-lhe a mão. Teve, por um momento, medo de falar, pois sentia vontade de chorar. Beijou-lhe a mão, dizendo:
— Obrigado, Ellen, obrigado.
Ela sentou-se perto dele e aceitou um cálice de xerez. Ele não podia deixar de fitá-la, vendo-a tão rejuvenescida, tão viva, tão graciosa, tão parecida com a Ellen de antigamente.
— Estive ouvindo o rádio — disse ela. — Parece que hoje está acontecendo alguma coisa muito séria na Wall Street. Que significa?
Francis estava começando a entender. Sabia que fora planejado. Ouvira isso durante muitos anos de seus “amigos”, mas estes tinham sempre sido muito discretos em sua presença. “Mudança de economia para libertar o povo da opressão e da exploração do capitalismo”, murmuravam eles. Francis aceitara isso como uma “mudança social” necessária. Mas estivera hoje na Bolsa e vira terror e desordem, não somente por parte dos “capitalistas”, como dos “pequenos” que tinham investido no mercado, de boa fé, ouvindo o canto de “prosperidade permanente”. Estava confuso. Previra uma “mudança” que não arruinaria o “povo”, nem lhe causaria um tremendo pânico. Francis examinara sua-situação financeira. Era vulnerável. Por que motivo seus “amigos” não o tinham avisado uma semana antes? Por que motivo tinham estado tão ocupados em seus escritórios fechados, a ponto de não terem tempo de falar com ele, tranquilizando-o e explicando-lhe os acontecimentos daquele dia? Ele estava terrivelmente assustado.
Aqueles homens também eram capitalistas, com fortunas enormes. Estariam sentindo-se ameaçados, como Francis se sentia com o desastre? Seguira os conselhos desses amigos durante muitos anos, comprando o que eles lhe recomendavam e vendendo o que lhe sugeriam que vendesse. Apesar disso, viu, naquele dia, que sua fortuna diminuíra terrivelmente.
— Não sei o que significa, Ellen. Não sei nada mais do que os outros. Só sei que houve uma calamidade. Mas ouvi falar de grandes compras, num esforço para salvar o mercado... Provavelmente tudo dará certo.
— Espero que sim.
Francis olhou para o cálice de xerez de Ellen e perguntou:
— Onde é que arranjou isso? Você sabe que é ilegal.
A covinha de antigamente, que desaparecera havia muito tempo, surgiu de novo no rosto de Ellen.
— Oh, foi o Padre Reynolds que me deu. Não é vinho de missa. É da adega dele, pelo que me disse. — Ellen tomou um gole de xerez. Seus olhos, agora brilhantes e de um azul intenso, fitaram Francis por sobre a borda do cálice e ele não pôde ficar zangado. Mas disse:
— Não sou a favor de... religião... Ellen, principalmente do catolicismo romano.
— O Padre Reynolds e o Dr. Cosgrove me restituíram a vida, Francis. Tudo o que o Padre Reynolds diz e faz é verdade, para mim. Se eu não tivesse perdido a fé, não teria ficado tão doente, por tanto tempo... Eu vivia perdida. Agora vejo de novo a terra e o céu. Estou começando a ter esperança.
Francis fitou-a e de novo seus olhos se umedeceram. O tom de voz de Ellen comovera-o mais do que as palavras.
— Tudo o que a ajudar, Ellen, é maravilhoso para mim também. Não posso explicar-lhe... Eu estava desesperado. Vê-la como você está agora, notar o colorido de seu rosto e de seus lábios... é como... como ver a vida voltar a uma pessoa que parecia morta.
Dessa vez foi ela quem o fitou, admirada, percebendo pela primeira vez que ele a amava. Ficou ao mesmo tempo envergonhada e triste, sentindo remorso.
— Obrigada, Francis, muito obrigada. Não existe suficiente amor no mundo e o amor deve ser apreciado. — Fez uma pausa e continuou: — Sabe, jamais confiei no Dr. Lubish e no Dr. Enright. Flavia qualquer coisa... não sei o que era, mas eu tinha medo deles. Sei que vocês fizeram por bem... chamando-os para que tratassem de mim...
Ele ficou perplexo e pensativo. Depois, disse:
— Eu não sabia de nada. Foram Gabrielle e Christian que me recomendaram aqueles médicos, Ellen.
Ela fitou-o atentamente.
— Meus filhos?
— Sim. Gabrielle conhecia a filha do Dr. Lubish e fui procurá-lo. Para dizer a verdade, eu também não gostava muito daqueles dois. Não a ajudaram em nada, Ellen.
— Christian e Gabrielle? — perguntou Ellen, empalidecendo.
— Sim, foram eles.
Ellen colocou o cálice numa mesinha e ficou olhando para ele.
— São homens muito famosos — disse Francis. — Tenho certeza de que ajudaram muitas pessoas doentes. Mas não eram indicados no seu caso, ao que parece.
— Não; não para mim — respondeu Ellen, lentamente. Agora olhava para Francis com expressão distante. — Tenho certeza de que meus filhos acharam que eles me ajudariam, como você achou.
— Claro, Ellen.
Ela estava pensando nos últimos meses em que estivera sob “tratamento”, lembrando-se dos pesadelos, da letargia, do desligamento crescente, do sofrimento, do medo, das duras acusações, da perplexidade e da angústia, das alucinações diárias, dos meses de vida perdidos e, acima de tudo, de seus terrores.
— Que houve, Ellen? — perguntou Francis.
— Nada, nada de sério. Estava apenas pensando na diferença entre os médicos. Se eu tivesse continuado com o Dr. Lubish, provavelmente não tardaria a morrer. Talvez já estivesse morta.
— Você esteve bastante doente, querida. Fiquei meio louco.
Ela percebeu a sinceridade dele e pensou: “Pobre Sr. Francis! É realmente muito bom... e simples. É estranho que eu nunca tivesse percebido isso antes. Como está abatido, envelhecido, magro e desanimado! Preciso ser boa para ele e nunca me esquecer do que um dia significou para mim”. De repente sorriu para. Francis, como para um amigo negligenciado. Estendeu-lhe a mão e ele a tomou. A de Francis estava fria e úmida e Ellen sentiu uma grande compaixão por ele.
— Você é muito bom — disse ela, impulsivamente.
Nunca mais teria medo dele, pois via-o pelo que ele era, um homem iludido, embora pretensioso, um fanático, mas digno de pena. Ellen tinha agora uma percepção que nunca antes possuíra, e ficou muito triste.
— Não sou muito bom — disse Francis, pondo a mão na testa por um momento. — As coisas agora me parecem muito... peculiares. Estou abalado. Não sei o que está acontecendo. Não posso explicar, Ellen. Posso apenas dizer que me sinto muito feliz por você estar de novo em casa, parecendo a mesma de antigamente.
Jantaram juntos, com o rádio ligado, a pedido de Francis. Ellen ouviu com ele as notícias. As vozes eram radiantes. “O mercado esteve agitado, hoje, mas agora tudo está bem.” O presidente expressara seu otimismo. “Um mero ajuste, temporariamente”, observara ele. “Atingimos uma prosperidade permanente para todos os americanos. Nosso país é sólido, estável, rico e forte. Não há motivo para ansiedade.”
— Ainda bem — observou Ellen, depois da última irradiação.
Mas ela viu, com surpresa, que Francis apenas a fitou sombriamente. Ele nunca tivera muito apetite. Mas naquele dia mal tocara na comida. “Eles não me contaram”, pensou Francis. Não esperava que “isto” acontecesse tão depressa. Estava ao mesmo tempo amedrontado e perplexo. Mas talvez fosse, realmente, apenas uma “agitação”. Quando o mercado revivesse, como certamente aconteceria no dia seguinte, ele começaria a vender suas ações, pelo menos uma grande parte. Se a América estava ameaçada de um desastre, ele queria ver-se a salvo da calamidade universal. Seus amigos não o tinham prevenido porque não houvera motivo para isso.
— Encontrei hoje uma carta da querida Kitty — disse Ellen. — Aqui em casa. Ela esteve tão doente, que os médicos lhe recomendaram um longo período de descanso. Tantas atividades, tantos compromissos sociais! Ela é tão cheia de vida que se esquece de que não é mais tão jovem. Espera chegar a Nova York dentro de dois dias. Gostaria de vê-la novamente.
Francis fitou-a com ar perplexo.
— Kitty? Ah, sim, Kitty. — Pensou no depoimento que ela fizera a respeito de Ellen. — Ela se preocupava muito com você, Ellen. Mas teve que sair, embora eu saiba que desejava ficar aqui e ajudá-la no que fosse possível. Tudo aconteceu muito de repente.
Ficou mais perplexo do que nunca, lembrando-se do sorriso sombrio e astuto de Kitty, sempre que era mencionado o nome de Ellen. Disse, sem saber por que o dizia:
— Ellen, talvez seja melhor que você tenha outras amigas, além de Kitty. Ela é velha demais para você e muito “mundana”. Você não liga para a vida social, querida — disse o homem que não era mundano e jamais o seria.
— Mas não tenho outras amigas — observou Ellen. — Eu... durante anos evitei todo mundo e não queria ver ninguém. A culpa não é dos outros; é minha.
— Talvez — disse Francis. O Dr. Cosgrove o prevenira de que Ellen não deveria ser perturbada durante muito tempo, de modo que ele sorriu para a esposa e ela retribuiu o sorriso.
— Logo precisarei procurar meus outros amigos — disse Ellen. — Tenho que recomeçar a viver. — A paz das últimas semanas voltou, assim como uma doçura, uma fome de viver e aquela força estranha. Acrescentou: — Tudo isso deve ter sido muito duro para os meus filhos.
Os dois irmãos estavam sentados no apartamento de Christian, na 48th Street. Tinham ouvido as notícias pelo rádio, quase que em completo silêncio. Quando terminou o último noticiário, Gabrielle desligou o rádio e disse, calmamente:
— Parece que estamos acabados.
Christian nada disse. Estava sentado, inclinado para a frente, com as mãos cruzadas fortemente entre os joelhos. Seus cabelos ruivos brilhavam à luz do abajur, mas o rosto estava tenso, podendo-se notar os músculos contraídos.
— Está acontecendo alguma coisa... alguma coisa sobre a qual nada sei — disse ele. — No meu escritório, hoje, havia uma grande confusão; ninguém trabalhava. Não pude descobrir coisa alguma, e é isso que me assusta.
— Mas por quê? — perguntou Gabrielle.
Christian lançou à irmã um olhar enigmático.
— Você não sabe o que está acontecendo — resmungou. — Também eu não sei de muita coisa.
— Que é que você acha que está acontecendo? — perguntou a moça, vivamente. Mas o irmão não podia contar-lhe. Seu rosto se tornou mais tenso e Gabrielle viu que ele estava furioso.
— Eles deveriam ter-me contado — disse Christian, finalmente.
— Não sei do que está falando, Chris. A única coisa que sei é que estamos praticamente na miséria. Isto é, estaremos, se o mercado tiver um colapso, apesar desses enormes investimentos.
Entreolharam-se durante algum tempo. Depois Gabrielle disse, com uma suave naturalidade:
— Se ao menos ela tivesse morrido. Se ao menos ela estivesse morta!
— É verdade. A fortuna de meu pai é sólida. Se ao menos ela estivesse morta! Por que não morreu?
Gabrielle deu uma risada breve e feia.
— Ora, bem que tentamos. Se não fosse por aquele maldito Charles Godfrey... ela teria morrido e nós não estaríamos aqui nesta amargura.
Christian observou a irmã.
— Acabaremos por achar um jeito, Gaby. Acharemos um jeito.
Levantou-se e beijou-a. Ela se agarrou ao irmão. Pela primeira vez, desde criança, chorou, exclamando:
— Não é justo! Não é justo!
Capítulo 42
Para Charles Godfrey não foi surpresa quando, no dia seguinte, terça-feira, 29 de outubro, o mercado ruiu completamente, sem que os banqueiros fizessem um esforço para salvá-lo.
Os jornais chamaram a situação de “pesadelo financeiro, em nada comparável ao que jamais aconteceu na Wall Street”. Apesar disso, no dia seguinte, a América teve alguma esperança pelo fato de John D. Rockefeller dizer:
“Acreditando que as condições fundamentais do país ainda são sólidas, meu filho e eu, nos últimos dias, compramos algumas ações que consideramos sólidas”.
A calamidade pareceu amainar por uns dois dias, os preços melhoraram ligeiramente. Depois, a Bolsa foi fechada por dois dias. Por uma razão qualquer, isso foi considerado “bom”, apesar das últimas vendas, colossais.
Francis Porter não conseguia ficar no escritório. Vagueava pela Wall Street, no meio de dezenas de outras pessoas. Ainda não pudera consultar seus “amigos”. Estavam ocupados demais. Seu único consolo era ser agora recebido afetuosamente por Ellen, quando voltava para casa, e o fato de notar que ela melhorava dia a dia. Passavam horas agradáveis juntos, enquanto Ellen lia um livro e Francis examinava os negros cabeçalhos dos jornais, procurando ainda ter esperança. Certamente ele saberia, não é mesmo? ...se o “dia” tivesse chegado? Teria sido avisado meses antes. Tentara mesmo descobrir se Christian “sabia de alguma coisa”. Finalmente percebeu que Christian não tinha mais informações do que ele próprio. Então... o dia ainda não “chegara”.
Gabrielle e Christian foram uma vez visitar a mãe, detestando ver que ela recuperara a saúde milagrosamente, detestando seus sorrisos afetuosos, sua solicitude por eles. Correspondiam com sorrisos amorosos, beijavam-na e tramavam. Foram os primeiros a visitar Kitty Wilder, quando ela voltou para casa. Kitty estava magra e murcha, dura, nodosa como um galho seco no inverno. Mas os dentes grandes e brancos luziam mais do que nunca no rosto escuro e enrugado.
— Passei uns tempos maravilhosos em Londres, Paris e Roma, meus queridos! Nos navios também foi muito divertido. E que vestidos comprei em Paris! Fantásticos. Não andamos na moda aqui nos Estados Unidos, Gaby. Verdadeiros provincianos. — Fez uma pausa e perguntou com expressão tristonha:
— E como vai sua mãe, queridos?
— Parece vinte anos mais moça. E sadia. E florescente
— disse Gabrielle. Acrescentou, com amargura: — Gostaria de saber o que aquele médico está dando para ela. Serviria para mim, atualmente.
O rosto de Kitty exprimiu sua decepção.
— Que ótimas notícias! — disse, com entusiasmo. — Preciso ir visitá-la daqui a um ou dois dias, depois que desfizer as malas e estiver de novo instalada. — Apertou os olhos e continuou: — Então, afinal de contas, ela não vai ser internada?
— Não. Ainda está sob os cuidados do Dr. Cosgrove
— respondeu Christian. — Ele e aquele padre, assim como o infernal Francis, guardam-na como leões.
— Ah! — exclamou Kitty. Ficou pensativa e continuou:
— Pois bem, não podemos perder a esperança de que ela se recupere, não é?
Os três trocaram olhares significativos. Depois os dois irmãos sorriram.
— Estamos contando com você, tia Kitty, para consolidar... a melhora. — disse Christian.
Depois disso, discutiram o mercado. Kitty estava otimista, pois nos últimos anos ela só comprara títulos sólidos.
— Não tenham medo, nem pensem que as coisas estão más, porque não estão. É uma fase. Em geral, após um período de grande prosperidade vem a crise. Depois tudo se acalma novamente e os preços recomeçam a subir.
Conforme dissera, dali a dois dias Kitty foi visitar Ellen. Esta a recebeu com afeto e alegria. Levou a amiga para a biblioteca, para tomar chá, e conversou como uma mocinha. Kitty ficou sentada, fitando Ellen, mas deu ao rosto uma expressão ansiosa e sombria.
— Ellen querida, pensei que viesse encontrá-la muito melhor. Mas como está magra! E pálida, e abatida! — Olhou para as faces rosadas da amiga e sacudiu a cabeça. — Você se sente realmente bem? Parece nervosa e perturbada. Talvez tivesse sido muito melhor se tivesse sido internada num sanatório, em vez de ir para aquele hospital sombrio.
— Internada? — exclamou Ellen, empalidecendo. — Que quer dizer com isso, Kitty? Quem falou em semelhante coisa? Isso é para os loucos, não é?
Kitty percebeu que cometera um engano. Mas era muito viva.
— Pois bem, querida, falaram em sanatório, onde você poderia descansar num ambiente alegre, em vez de ir para um hospital.
— Quem pensou nisso, Kitty?
Kitty encolheu os ombros.
— Querida, não me lembro. Faz tanto tempo! E os sanatórios não são só para os “loucos”, meu bem. São também para as pessoas que se sentem infelizes, que precisam de calma e de paz por algum tempo. Você está atrasada, Ellen.
A dona da casa serviu o chá em silêncio. Kitty não conseguia perceber o que havia por detrás do rosto “daquela estúpida camponesa”.
— O coitado do Francis e seus pobres filhos sofreram muito, Ellen! Era trágico vê-los. Ficaram quase tão doentes quanto você. Trágico.
A expressão de Ellen mudou, tornando-se novamente meiga e suave.
— Sei disso. Gabrielle chorava e pensei que Christian também fosse chorar. E Francis... somos bons amigos, agora. Ele me conforta, quando me sinto só. — Ellen sorriu. — Francis vai me levar ao teatro na próxima semana, para um espetáculo alegre, diz ele. Ziegfeld Follies, creio eu. Estive fora durante tanto tempo...
— Francis? Ziegfeld Follies? — Por um momento, Kitty achou graça. — Isso não combina com ele.
— É mesmo, não é? Mas Francis está decidido a fazer tudo o que puder por mim.
Kitty tomou seu chá. Olhou para o vestido azul-marinho de Ellen, de corpete bordado com pedras prateadas, que lhe assentava muito bem. Era justo, deixando perceber o corpo bem-feito e realçando a cor dos olhos e o brilho dos cabelos.
— Querida, quem foi que lhe comprou esse vestido? Está fora de moda, é muito jovem e muito vistoso para você, para alguém que perdeu as cores... e a mocidade. Francamente!
— Foi Gabrielle quem o escolheu para mim. Ela tem muito bom gosto, Kitty — protestou Ellen.
— Foi ela? Estou admirada. Mas a verdade é que os jovens nunca sabem o que é apropriado para os mais velhos.
Agora Ellen sorria francamente. Pela primeira vez na vida, falou de um jeito que se aproximava da malícia.
— Não sou assim tão velha, Kitty. Ainda não tenho quarenta e quatro anos. Só os completarei em janeiro. E também sou muito mais moça do que você.
Kitty teve um espasmo de cólera.
— É verdade? Pensei que você fosse mais ou menos da minha idade, querida. Quando foi que nasceu?
— No dia 4 de janeiro de 1886.
Ellen ainda fitava a outra sorrindo e Kitty pensou: “Sempre achei que você era astuta, sua criadinha, e agora tenho certeza disso. Primeiro o coitado do Jeremy e agora o coitado do Francis e, pelo que ouvi dizer, eles não foram os únicos. O que os pobres-diabos viram em você é que não sei dizer!” Procurando aparentar naturalidade, Kitty disse:
— Pois bem, a idade não é uma questão de números, não é mesmo? O que importa é como a pessoa se sente...
— Sinto-me como se tivesse dezoito anos — replicou Ellen. Estava admirada de si mesma. A pobre Kitty estava apenas tentando ser boazinha e, no entanto, ela, Ellen, não sentia remorso, ou muito pouco, pelo que havia dito. Acrescentou, em tom conciliador: — Coma um destes biscoitos quentes, Kitty; têm recheio de geleia de framboesa, sua favorita. Que tempo feio está fazendo, não? Frio, triste, cinzento, e agora esse medo e essa confusão por causa da situação econômica! É verdade que não fiquei sabendo de muita coisa que aconteceu no ano passado e estou tentando me atualizar. Se Jeremy fosse vivo, poderia me elucidar.
— Oh, tenho certeza que sim — disse Kitty. Fez uma pausa e continuou: — Ele também ficaria preocupado com os filhos. Gabrielle e Christian estão procurando poupá-la, Ellen, mas estão muito preocupados. As ações e os títulos que herdaram dos avós não estão valendo quase nada, agora. Estou triste, por eles.
Ellen ficou séria.
— Sinto dizer que não entendo dessas coisas. Mas certamente eles não estão em dificuldade, estão?
— Precisa perguntar a eles, você mesma, quando se sentir melhor... muito melhor do que agora. Afinal de contas, não deve ter preocupações durante muito, muito tempo.
Antes da visita de Kitty, Ellen sentira uma nova vida, mas de repente se sentiu vazia, cansada e agitada. Abaixou a cabeça e ficou refletindo. Teria que perguntar aos filhos; seria preciso encontrar um meio de ajudá-los. Não podia, entretanto, acreditar que eles estivessem em grande dificuldade, pois certamente lhe teriam falado sobre isso. Como prova de consideração, não queriam aborrecê-la, agora. Como que falando consigo mesma, disse:
— Se Jeremy estivesse aqui, eu não teria medo de nada. De nada. Nem por mim, nem por meus filhos. Apesar de tudo, não estou realmente com medo, sabe, Kitty?... Sinto que ele está sempre comigo; sinto que nunca deixará de me amar, que ainda me ama. Aqui é o meu... abrigo. — Ela sorriu de leve. — Meu porto seguro. Saber que Jeremy me ama faz com que me conserve viva, esperançosa, por causa dele.
Ellen ficou admirada do súbito silêncio que se fez entre ela e Kitty. Ficou mais admirada ainda com a curiosa expressão da outra, um ar quase exultante. Viu então, pela primeira vez, que Kitty não era bonita, que era mesmo feia, e que havia qualquer coisa de maligno em seus olhos brilhantes e nos dentes à mostra.
Erguendo o dedo que parecia um espeto, Kitty disse:
— Ellen querida, você precisa ter cuidado. Espero que não esteja tendo mais alucinações a respeito do pobre Jeremy estar “vivo”, quando na realidade está morto. Que iria o seu médico pensar? Mandá-la-ia imediatamente de volta ao hospital.
O rosto de Ellen recuperara a serenidade.
— Não, não mandaria. Foi ele quem me assegurou, assim como o Padre Reynolds, que Jeremy ainda vive e me ama.
— Que absurdo, querida!
Ellen sacudiu a cabeça.
— Não. É a verdade, a única coisa certa. O amor não morre; não atraiçoa; é imortal.
De novo um grande silêncio encheu a sala, como uma presença malévola. Kitty começou a lamber o canto dos lábios. Seu olhar, fixo em Ellen, era vivo demais. Ela estava radiante. Mas teria que refletir sobre isto. As possibilidades eram tremendas, por demais excitantes.
Francis entrou na biblioteca, parecendo, à luz do crepúsculo, um fantasma alto e cinzento. Ficou admirado ao ver Kitty e cumprimentou-a com fria formalidade. Depois observou Ellen, com um afeto comovente.
— Como vai, querida? — perguntou, hesitante, inclinando-se depois para beijar a face de Ellen.
— Estou ótima, Francis — disse Ellen, batendo de leve na mão dele. — Quer chá?
Francis olhou para Kitty e depois não pôde suportar-lhe a presença. Vendo que ela o observava atentamente, respondeu:
— Acho que não, querida. Preciso sair de novo; tenho um compromisso. Mas voltarei para jantar. Em todo caso, amanhã vou para Washington. Um cliente meu está em apuros.
Kitty saiu dali a alguns momentos e Francis disse a Ellen:
— Há algo sobre Kitty que eu nunca soube antes. Acho que não é boa companhia para você.
Ellen fitou-o, constrangida, lçmbrando-se das respostas que dera a Kitty naquela tarde.
— Não sei o que você quer dizer, Francis. Ela sempre foi tão boa para mim, tão cheia de consideração...
Francis lembrou-se do depoimento de Kitty e soube agora que ela nunca tivera amizade por Ellen e sim apenas inveja e malícia. “Ela sempre odiou Ellen”, pensou, com uma perspicácia que lhe era estranha. Em todo caso, era um cavalheiro e como tal não podia falar mal de uma senhora, principalmente de uma que tinha a posição de Kitty. Disse, então:
— Talvez você precise de amigas mais moças, Ellen, mais da sua idade e com temperamento mais parecido com o seu. Todas as pessoas que conheceu por intermédio de Jeremy eram muito mais velhas do que você, assim como Jerry... e eu.
Ele ficou imaginando por que motivo Ellen sorriu tão largamente ao dizer: “A idade é apenas uma questão de números, não é mesmo?” Mas ficou contente ao ver a covinha no rosto dela e soube, como sempre soubera, que Ellen era a única coisa que realmente importava para ele, na vida, a única coisa que amara profunda e permanentemente.
Sentou-se, agora, após ter olhado de relance para o relógio, a aceitou a xícara de chá que Ellen lhe oferecera.
— Nunca a vi usando esse vestido, Ellen. Sou obrigado a reconhecer que Maude Godfrey tem bom gosto. O vestido lhe vai muito bem.
— Maude? Maude Godfrey? Tem certeza? — perguntou Ellen, desconcertada. — Pensei que tivesse sido Gabrielle... Todas as minhas roupas novas...
Francis fechou o sobrolho.
— Gabrielle lhe disse isso? Não. Você apenas tirou suas conclusões, Ellen — declarou ele, com uma nota da antiga severidade na voz. — Lamento dizer que é um mau hábito seu. Não morro de amores por Maude, nem por Charles. Mas eles deram prova de muita consideração. Maude redecorou esta casa (e custou um bom dinheiro), despediu os empregados que eram de caráter duvidoso, conforme vim a saber mais tarde. Pensei que você soubesse.
— Não, não sabia. — Agora Ellen teve uma verdadeira sensação de culpa. — Que gentileza de Maude! Não a vi desde que voltei para casa, naturalmente, mas ela nunca disse uma palavra nos bilhetes que me mandava para o hospital. E Charles também nada-me contou. Como compreendo mal as pessoas! Sinto muito. Preciso telefonar-lhe amanhã, para agradecer-lhe.
— Ela e Charles também lhe mandaram todas essas plantas, e muitas vezes mandaram flores para o hospital. Você não sabia, mesmo?
— Não, não sabia — respondeu Ellen, quase chorando. — Mas não devemos ser injustos com Gabrielle. Ela nunca insinuou que comprou meus vestidos e que redecorou a casa, nem que fez todas as outras coisas amáveis. Eu apenas... concluí que fora ela. Mas tenho certeza de que, se Maude não tivesse feito isso, Gabrielle o faria.
“Faria, mesmo?”, pensou Francis. Mas disse:
— É claro. Agora preciso sair por uma ou duas horas. Voltarei a tempo para o jantar. Descanse, nesse meio tempo.
Depois que Francis saiu, Ellen telefonou para a casa de Godfrey, mas disseram que ele e a família estavam em Boston, visitando uns parentes, e que só voltariam dali a duas semanas. Ellen ficou ao mesmo tempo decepcionada e aliviada. Escreveria a Maude, agradecendo-lhe, em vez de falar-lhe diretamente. Ainda não conseguia gostar da mulher de Charles, e agora sentia um leve ressentimento por ver-se obrigada a sentir-se devedora. Depois sentiu remorso por ter tido tal ressentimento. Mas era uma sensação de culpa muito diferente da que experimentara durante toda a vida. Era autêntica e, portanto, natural.
Subiu para os seus aposentos. A Srta. Hendricks estava sentada numa cadeira de balanço, tricotando, em seu quarto. Levantou-se quando Ellen entrou.
— Vamos nos vestir para o jantar, Sra. Porter? — Depois viu a expressão de Ellen e acrescentou: — Céus, como parecemos zangada! Aconteceu alguma coisa?
— Estou aborrecida comigo mesma — respondeu Ellen. Depois, admirando-se de si mesma, deu uma risadinha que a fez parecer uma menina. — A senhora já teve vontade de dar um pontapé em si mesma, Srta. Hendricks?
— Inúmeras vezes — respondeu a enfermeira, encantada com a expressão maliciosa de Ellen. — Faz bem à alma... uma pessoa dar um pontapé em si mesma. Isto é, se for merecido.
— Oh, no meu caso, é — replicou Ellen.
Ficou ouvindo o rádio; estava cheio de “boas notícias”. Ellen sentiu um profundo alívio. Nada de mau acontecera à fortuna de seus filhos. Eles deviam ter-lhe contado tudo.
— Tive uma ideia maravilhosa,- queridos — disse Kitty a Gabrielle e a Christian, no dia seguinte. Estavam sentados na sala da casa de Kitty, tomando aperitivos. Os olhos da dona da casa brilhavam de alegria e despeito. — É tão maravilhosa que preciso refletir claramente, antes de contar-lhes o que é.
— Que ideia? — perguntou Christian, sem esperança. —
É a respeito de nosso dinheiro?
— Sim, é. E alguma coisa muito mais importante, muito mais. Mas deixem que eu planeje tudo.
— Se ao menos houvesse um jeito de nos livrarmos dela — disse Gabrielle. — Sinceramente, não suporto ir visitá-la. Odeio aquela casa; odeio tudo a respeito dela. É como um pesadelo. Mas faço um esforço para visitar a querida mamãe, por mais que a deteste.
— Ela está com ótima aparência — disse Kitty, sempre vingativa e feliz quando podia irritar suas visitas. — Fiquei realmente admirada.
No dia seguinte, o Padre Reynolds foi tomar chá com Ellen. Ela segurou-lhe a mão, como se ele fosse um pai querido.
— Como você está com boa aparência, Ellen! — disse ele. — Espero que esteja seguindo as instruções do Dr. Cosgrove.
— Sinto-me muito bem, padre. E esperançosa. Não sei realmente o que espero, mas isso me causa alegria. Estou cheia de expectativa.
Ele sentou-se perto da lareira. Seu rosto comprido e cansado tinha uma expressão doce e afetuosa. Ele sentiu em Ellen uma nova vibração, uma nova percepção.
— Ter expectativas é conservar-se jovem — disse ele. — Uma pessoa nunca fica velha quando sente que alguma coisa alegre poderá acontecer e acontecerá logo, mesmo que não saiba exatamente o que possa ser.
Aceitou com prazer um bolinho. Depois, ficou sério.
— Os dias atuais são terríveis para a América. Mas os americanos se recuperam facilmente. Já passaram por outras crises, embora tivessem achado que era o fim do mundo. Apesar disso, não me lembro, embora seja já um velho, de ter visto tal desespero. Dizem que é consequência da guerra, mas acho que é outra coisa.
— Jeremy também, há muito tempo, pensava assim — observou Ellen. — Eu gostaria de ter ouvido melhor o que ele me dizia.
O padre sacudiu a cabeça.
— Detesto ser dogmático, mas isso tornou-se um hábito para mim, talvez pelo fato de ser padre. Enquanto houver vida, há esperança, é o que dizem, e muitas vezes é verdade. É um chavão. Às vezes é estupidez dizer isso. Sinto uma calamidade no ar e não me refiro apenas ao colapso do mercado. Parece-me, de certo modo, que é o fim de uma era para a América e (talvez pelo fato de eu ser velho) sinto que a nova era será terrível.
Ellen também adquiriu uma expressão séria.
— De que modo, padre?
Ele olhou para a xícara, deixando-a depois de lado. Uniu as mãos e ficou olhando para elas.
— Leio os jornais; às vezes um item parece obscuro e não muito importante... e depois verifico que era muito interessante e, mais tarde, que é a notícia mas vital do mundo, muito mais importante do que os cabeçalhos.
Ellen esperou. O velho suspirou:
— O fim de uma era... o começo de uma era nova e terrível. Talvez eu me engane. Rezo para estar enganado. Li a respeito de um austríaco, Adolf Hitler. Você leu alguma coisa sobre ele, nos jornais, Ellen?
— Fiquei doente durante muito tempo, padre! Não li nada, nem soube de nada. Mas ultimamente li qualquer coisa no hospital e aqui. Não passa de um revolucionário, ou coisa parecida, na coitada da Alemanha, não é?
— Receio que seja muito mais, Ellen. Ninguém me ouve quando digo isso, mas eu sinto, eu sei. Coitada da Alemanha, dividida pelo Tratado de Versalhes e atirada na miséria... Ela estava à procura de um salvador. É triste a gente ver que, quando os homens e as nações procuram, um salvador, não se lembram de Deus. Procuram os malfeitores, os loucos, os cruéis, os criminosos, os pretensiosos, os homens que blasfemam. E Satanás os ajuda e lhes dá os piores... — O Padre Reynolds fez uma pausa. — Pois bem, esse Hitler, um homem condenado à prisão por insurreição, acaba de formar o que ele chama de Deutschvõlkische Freiheitsbewegung, um partido socialista radical, que se está tomando muito forte na Alemanha.
— Ele é comunista, então?
— É a mesma coisa, Ellen. A diferença entre o socialismo e o comunismo é quase nula. Os nazistas e os comunistas são iguais. Os financistas, os banqueiros e os industriais americanos, em seu próprio interesse, ajudaram o advento da revolução bolchevista russa. Fico imaginando se não estarão, agora, apoiando Hitler. Se assim for... as perspectivas para o mundo inteiro são assustadoras.
Ellen estava muito preocupada.
— Francis... é socialista. Contou-me isso há muitos, muitos anos. Não posso acreditar que seja cruel e criminoso...
O padre tentou sorrir alegremente.
— Muitos homens bons, ou inocentes (nem sempre é a mesma coisa), ficam iludidos e se tornam fanáticos, devido a alguma doença, no íntimo deles. Tenho certeza de que seu marido não é mau. Ele só pode ter sido ludibriado. Oh, você está me parecendo muito triste. Desculpe-me. Vamos mudar de assunto.
Perguntou sobre os planos de Ellen para o futuro e sorriu afetuosamente quando ela falou em levar os filhos para o estrangeiro, no verão. O rosto de Ellen estava iluminado, seus olhos brilhavam. “Parece uma criança”, pensou o padre. “Que Deus a proteja.”
Naquela noite, ele rezou: “Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade...”
Antes de dormir, naquela mesma noite, Ellen ficou de pé na cama e beijou os lábios do retrato de Jeremy e depois a mão. “Nunca me deixe, meu amor”, disse ela. “Nunca me deixe. Você, meu amor, é a minha esperança e a minha alegria. Não se esqueça de mim, não deixe de amar-me... Guarde-me com você para sempre.”
Sorriu para o retrato com um amor apaixonado, suspirou, deitou-se e dormiu.
Capítulo 43
O Dr. Cosgrove recusou-se a ir ver Ellen em casa, no interesse da própria paciente. Sugeriu que ela tomasse um bonde, um ônibus ou o metrô, só recorrendo ao seu automóvel quando o tempo estivesse muito ruim ou quando houvesse dificuldade de transporte. Ele nem mesmo aprovava muito um táxi. Ficava contente quando Ellen aparecia sozinha, falando da multidão no metrô e de sua longa espera por um ônibus na Fifth Avenue. Seus receios iam diminuindo dia a dia. Havia em seu rosto um novo frescor e uma doce excitação, como se ela achasse que não se deveria temer o mundo o tempo todo e sim interessar-se pelas coisas e delas participar.
Conversava com o médico com uma candura infantil e confiante; dia a dia seus olhos ficavam mais luminosos, enquanto sua pele readquiria o brilho que perdera havia muitos anos. Em dada ocasião, Ellen lhe mostrou, orgulhosamente, um mantô e um chapéu que comprara, sozinha, e ficou timidamente encantada com a admiração do médico. Ele começou a achar que, agora, não somente Ellen estava rejuvenescida, como exibindo para o mundo e para si mesma uma atitude que não conhecera nem mesmo enquanto estivera casada com Jeremy Porter. Havia nela um ar de fortaleza e de resistência que causava admiração até ao próprio Dr. Cosgrove.
— Lembre-se sempre do que eu já lhe disse, Ellen. Seu primeiro dever é para com você mesma e com seu bem-estar, como é o dever de todos os homens e de todas as nações. Amar o próximo é ótimo e cristão, mas esse amor sempre deve vir depois da auto-estima e dos interesses vitais de uma pessoa. Ninguém pode ajudar ou amar os outros sinceramente, a não ser que tenha orgulho de si mesmo.
— Foi o que Maude Godfrey me disse, há muito tempo, citando um jesuíta espanhol do século XVII.
O Dr. Cosgrove inclinou a cabeça.
— Uma, pessoa denegrir-se a si própria, acreditar que vale menos do que as outras à sua volta, não é nobreza, pois essa pessoa também é uma alma imortal e tem, aos olhos de Deus, tanto valor como qualquer outra. Para ser exato, a pessoa que não compreende isso provoca o desprezo dos outros, convida-os a explorá-la, o que é um crime contra Deus.
O médico sacudiu a cabeça e continuou:
— Ouvi dizer que agora, em nossas escolas, em nossos colégios e até mesmo nas igrejas, estão ensinando que os Estados Unidos deveriam ter-se juntado à Liga das Nações... para “fomentar a paz e a tranquilidade entre as nações”. Em resumo, que a América deveria abandonar as lembranças de seu passado glorioso, de suas realizações e arruinar-se, colocando-se a serviço de outros países. Isso não é uma humildade admirável,
Ellen. Seria uma estupidez. Receio que a América esteja ficando europeizada, e isso significará o fim de nossa força, assim como a nossa decadência. A América deveria cuidar dos seus, proteger os seus e nunca submeter-se à opinião ou ao domínio dos povos que perderam a coragem, o desejo de sobreviver, a vontade de suportar as vicissitudes da vida. Nem deveria, tampouco, transformar-se num asilo para os incompetentes de culturas estrangeiras, que provaram ser indignos de sobreviver. Você compreende, Ellen?
— Compreendo.
— Quando os homens ou uma nação se privam daquilo que ganharam honesta e criativamente, devido aos próprios esforços, isso não significa caridade, nem benevolência, Ellen. Apenas encoraja nos outros a mendicância, a arrogância e a má vontade. É muito perigoso para todos. Compartilhar indiscriminadamente empobrece todo o mundo e estimula ainda maior pobreza. — O médico pensou nos filhos cruéis de Ellen e no clamor lamuriento da Liga das Nações, na época presente. — O cuidado de uma pessoa consigo mesma e com seu país inspira os outros.
Ellen mostrou-se inquieta, pela primeira vez.
— Esta crise, doutor... E se meus filhos precisarem de ajuda?
— Por que haveriam de pedir ajuda à mãe, se eles se mostraram imprudentes ou esbanjadores e não souberam proteger seus interesses? Se a cobiça os levou à ruína, então a culpa é deles. — O médico estava ligeiramente alarmado. — Eles são moços, Ellen. Precisam encontrar seu caminho, como aconteceu com você e com seu marido. A luta enobrece e fortifica o homem. Uma “ajuda” imprudente só o desonra e o enfraquece. E Deus sabe o quanto todos nós precisamos de força!
Como Ellen ficasse em silêncio, ele continuou:
— Se seus filhos lhe pedirem alguma coisa, pergunte a você mesma: “Isso me prejudicará e me tornará mais vulnerável?” Se a resposta for “sim”, então recuse. Você me promete?
Ellen hesitou, depois prometeu. Vendo a expressão preocupada dos olhos do médico, disse:
— O senhor não sabe de muita coisa a respeito de meus filhos. São dedicados e amorosos, têm muita consideração comigo. Nunca me pediriam algo que me prejudicasse ou me entristecesse.
Ellen ficou admirada com a súbita expressão sombria do rosto do médico, que dizia a si mesmo: “Um destes dias, quando ela estiver mais forte, precisará saber quem são seus filhos”.
— Os filhos não são para os pais a maior bênção deste mundo, Ellen. Isto é, muitos deles. Podem também ser uma maldição e destruir os pais. Não saber disso, ou ignorá-lo, é sentimentalismo barato... e perigoso. Que é que a Bíblia diz a respeito das crianças? “O coração de uma criança é falso... O homem é mau desde o nascimento e mau desde a mocidade.” O homem não nasce puro, nobre e imaculado, conforme os psiquiatras andam gritando por aí. Nasce humano, com a crueldade inata da humanidade. Somente uma severa disciplina pode fazer de uma criança um homem.
Ellen pensou nas crianças de sua infância. Lembrou-se dos sorrisos astutos e da alegria que tinham sentido ao fazê-la sofrer. Seu rosto se entristeceu. O médico disse, suavemente:
— Conhecer a verdade, Ellen, nem sempre é obter a felicidade. Pode ocasionar tristeza. Mas pode dar força, também.
Quando estava no metrô, a caminho de casa, Ellen pensou: “Mas ele não conhece Gabrielle, nem Christian!” Sua tristeza desapareceu e ela sorriu.
Gabrielle e Christian estavam sentados na sala de Kitty. Estavam pálidos e abatidos, mas Kitty sorria.
— Oh, não se preocupem tanto, queridos! Sei, pelo que leio nos jornais, que a crise passou e que o mercado se estabilizará. O presidente está muito otimista. Ouvi-o no rádio, na noite passada. As coisas vão bem. Nossa dívida nacional é de apenas vinte bilhões de dólares; temos no Tesouro todo o ouro do mundo! Animem-se.
— Minhas ações caíram mais ainda, tia Kitty — disse Christian.
— As minhas também — contou Gabrielle. — Estamos em péssima situação, embora os corretores de Christian continuem pedindo-lhe dinheiro para cobrir a diferença das compras a termo. Não fui tão longe quanto Christian, mas minha situação também é má. Hoje tive uma chamada de doze mil dólares e Christian uma de dezoito mil. Se as coisas continuarem assim, ficaremos totalmente arruinados.
Maldosamente, Kitty quis dizer: “Pois bem, eu nunca comprei a termo, de modo que estou numa situação sólida.
Tenho apenas que esperar que as ações comecem a subir de novo”. Mas apenas sorriu afetuosamente para os dois irmãos.
— Animem-se. As coisas não podem piorar. É o que dizem os corretores e os banqueiros.
— E se piorarem? — perguntou Christian.
— Então porei meu plano em ação, querido. Vamos esperar para ver. Estou aperfeiçoando meu plano. Muito depressa, mesmo.
— Por que não nos fala sobre ele, para que fiquemos preparados?
— Gaby, talvez não seja necessário. — Kitty fez uma pausa. — Nesse meio tempo, eu gostaria de discutir a situação com meus advogados, sobre o testamento de Jeremy e a renda de Ellen, queridos... Contar-lhes-ei a história toda, inclusive a doença de Ellen e como impediram que ela fosse internada, coisa absolutamente necessária. Ora, ela está mais sonhadora do que nunca! Fala de seu pai, queridos, como se ele ainda estivesse vivo e morasse em casa. E sempre usa os verbos no presente! Se isso não for loucura, então não sei o que é! Ontem fiquei assustada... Pobre mulher! Ela me mostrou umas roupas que comprou ultimamente e disse que Jeremy gostaria delas, pavoneando-se como uma mulher apaixonada. Pobrezinha!
— O querido Francis a encoraja — disse Christian com ironia e ódio. — Acho que está tão doente quanto ela, ou talvez pior. Ele já esteve do nosso lado, contra ela, influenciando-a. Agora a situação se inverteu. Francis realmente está sempre à volta dela... observando-nos... o maldito!
— Não sei o que aconteceu com Francis — observou Kitty, suspirando. — Parece que perdeu o juízo. Mas a verdade é que já o perdera quando se casou com sua mãe. Até hoje não entendi por que fez isso.
— Pelo dinheiro dela — comentou Gabrielle. — Por que mais haveria de ser?
— De fato — concordou Kitty. — Agora, aqui estão os nomes de meus advogados. Sejam discretos, mas contem-lhes tudo o que for necessário ou importante.
Christian pegou o cartão que Kitty lhe oferecia.
— Witcome e Spander. Já ouvi falar deles. São muito careiros, não são?
— Todos os advogados são careiros, meu bem. Mas esses percebem o cheiro do dinheiro mais depressa do que os outros. Vocês devem consultá-los o mais depressa possível. Eles fazem parte do meu plano. Pedirão um sinal, ou quererão trabalhar na base da comissão. São meus advogados há anos e nunca me arrependi disso.
Gabrielle sorriu astutamente, enquanto o irmão olhava para o cartão, com ar de dúvida.
— Começo a compreender — disse a moça. Levantou-se e seu rosto petulante adquiriu uma expressão de repulsa. Disse ao irmão: — Vamos, Christian. Temos que aguentar uma visita e um jantar em casa de mamãe, hoje à noite. E ouvir suas bobagens, tudo dito com ar de inteligência. Até com alegria, meu Deus! Na idade dela!
Durante alguns minutos Kitty não gostou tanto dos dois.
— Sempre pensei que sua mãe fosse mais velha do que diz ser. Mas é possível que nem saiba sua idade exata, não é?
— Ela age como se tivesse cem anos — comentou Christian.
Gabrielle, que estivera observando Kitty, disse:
— Ela parece pelo menos quinze anos mais velha do que você, tia Kitty. Nunca teve vivacidade. Agora está um trapo.
Foram visitar a mãe, que os esperava ansiosamente. Ficaram furiosos quando viram a alegria, a ternura com que Ellen os recebeu. Acharam que ela deveria estar internada, ou morta. A mãe era novamente um empecilho para a felicidade deles e o tempo estava correndo. Naquela noite os jornais não se mostravam tão otimistas quanto ao mercado.
— Odeio abrir minha correspondência de manhã, ou atender o telefone — disse Christian. — Outras chamadas de dinheiro. Tenho exatamente trinta mil dólares em minha conta... e montes de títulos e de ações que hoje quase nada valem.
— Anime-se — disse Gabrielle, quando entraram no Packard novo do irmão. — Começo a perceber o que a querida tia Kitty tem em ménte. Muito inteligente, não há dúvida. E nossas preocupações acabarão.
No dia 9 de novembro, em Boston, Charles Godfrey disse a Maude:
— Tenho um pressentimento, querida, de que deveríamos voltar amanhã para Nova York.
— Você e seus “pressentimentos” de irlandês! — replicou Maude, beijando-o. — Vocês, irlandeses, são todos fey.
Não sei por que lhe dou ouvidos, mas dou. Muito bem. Fale-me de seus “pressentimentos”.
— Francamente, não sei. Mas estou preocupado. Acho que é urgente voltarmos. Não se trata do mercado, graças a Deus. Em todo caso, nunca comprei muito a termo. Talvez seja a atmosfera geral de mau augúrio... ou sei lá o quê! Estou também pensando em Ellen.
— Mas ela está bem, agora, pelo menos foi o que disseram o Dr. Cosgrove e o Padre Reynolds.
Charles inclinou a cabeça.
— É o que dizem. Mas conheço Ellen. Talvez melhor do que eles. E há aqueles malditos filhos... Nunca me esquecerei do que tentaram fazer à mãe.
Maude sabia que o marido ainda amava Ellen, com o amor poético que sentira por ela desde que a conhecera. Mas Maude não era ciumenta. Todos os homens tinham direito a uma dedicação romântica, ao sonho de mulheres belas. Maude satisfazia-se em ser uma esposa competente e sensata. Um homem sem poesia na alma era digno de pena, mesmo que esta poesia se relacionasse com outra mulher. Na realidade, quanto mais inacessível fosse a mulher, mais valorizada ficava aos olhos do homem. Isso dava ao homem um ar de tristeza nobre, de renúncia cavalheiresca.
— Os filhos de Ellen não ousarão prejudicá-la novamente — comentou Maude. — Têm medo demais de você.
— Espero que sim. Mas, parafraseando a Bíblia, a cobiça afasta o medo.
Nos últimos dias, Ellen chegara realmente a tomar a tímida iniciativa de procurar os poucos amigos que tivera antes de se casar com Francis. Eles ficaram atônitos; quase se tinham esquecido de que ela existia. Mas ficaram sinceramente satisfeitos com os telefonemas de Ellen e aceitaram o convite para um chá em casa dela, no dia 11 de novembro. Ellen estava muito alegre com sua ousadia e cantarolava baixinho em sua casa quente e confortável. Deixara, com pesar, que a Srta. Hendricks partisse, dias antes.
— Se precisar de mim, basta telefonar-me, Sra. Porter — dissera a enfermeira na véspera da partida. — Virei imediatamente. — Olhara afetuosamente para Ellen, agora corada e rejuvenescida, e sentira como que um triunfo pessoal.
Recentemente, Ellen recomeçara a tocar piano e reconhecia que estava precisando de aulas para voltar à antiga forma. Chamou o professor que tivera antes e ficou contente por saber que ele iria voltar, embora apenas uma vez por semana. Ele ficara atônito, quando a Sra. Porter lhe telefonara.
— Estive doente — dissera Ellen. — Mas agora quero de novo o prazer da música. Meu marido teria gostado disso.
O único desgosto de Ellen era ver que os filhos não gostavam do tipo de música que a deliciava. Mas a verdade era que eram jovens. Preferiam a “música moderna”, que, para Ellen, era apenas dissonante. Todas aquelas trombetas e os pseudocantores chamados crooners e o ritmo frenético... Faziam parte de um mundo que repugnava a Ellen, o mundo dos corretores, dos “executivos”, dos gângsteres e de boates vulgares, de mulheres ávidas e suspeitas, de crimes praticados por quadrilhas, de filmes barulhentos, de saias muito curtas, de atividades e escândalos públicos e vergonhosos. “Devo estar ficando velha”, pensou, sorrindo. “Com certeza deveria, assim como meus filhos, achar tudo excitante. Acho muito pobre, vulgar, sem substância e sem beleza. Vistoso e falso. De que parte do mundo vieram todas essas pessoas, para encher o ar com seus gritos e as ruas com seus rostos pintados e sua rudeza?” A vida não era mais calma e civilizada. Os vândalos tinham chegado. Seria a verdadeira América restaurada, um dia?... A América de princípios, de decência e de decoro, a América de valores autênticos? A própria pergunta a deprimia. Ellen estava decidida a jamais tornar a ficar deprimida, de modo que afastou-a do pensamento. O mundo continuava sua marcha alegre, para o bem e para o mal, e ninguém poderia detê-lo. A gente precisava... ajustar-se? Sim, conforme dizia o Dr. Cosgrove.
Mas ajustar-se à vileza, à nulidade, à inferioridade, ao que era de terceira classe? Seria “progresso” aceitar os trastes, os maus e os vis? A graça desaparecera do mundo. Poderia ser restabelecida? Ellen afastou também esse pensamento. Não era o mundo que ela criara; o mundo atual só sentia desprezo pelo passado e por suas tradições.
Ellen refletiu que o mundo de sua mocidade não fora suave. Fora duro e exigente. Mas também fora forte. Os competentes e os hábeis haviam sido justamente recompensados. Um homem com bravura e inteligência sempre fora bem-sucedido de acordo com sua capacidade; sempre fora capaz de vencer a adversidade. Se sofria com esse processo, era um sofrimento construtivo. As pessoas tinham orgulho, até mesmo as mais humildes.
Naquela tarde, Ellen ficou admirada ao receber, um telefonema de Maude Godfrey. Intimidou-se imediatamente e gaguejou:
— Eu quero agradecer-lhe, Maude, por sua gentileza para comigo. Acabo de saber... Você deve ter-me considerado uma ingrata.
— Não. Você nunca poderia ser ingrata, Ellen. A ingratidão não faz parte da sua natureza. Estou contente por saber que ficou satisfeita.
— E virá tomar chá aqui, às quatro horas, no dia 11 de novembro?
— Claro — respondeu Maude, realmente feliz. Fez uma pausa. Depois, disse: — Charles anda preocupado com você. Foi por isso que voltamos mais cedo do que pretendíamos.
— Oh, Charles está sempre preocupado — replicou Ellen, com uma naturalidade pouco habitual. — Agora estou ótima e muito feliz. Não sei como agradecer a Charles por ter chamado o Dr. Cosgrove para mim.
À noite, Maude disse ao marido:
— Você vê que, graças a Deus, estava enganado a respeito de Ellen. Há muitos anos que não a ouço falar assim.
Charles refletiu durante alguns minutos. Depois, disse:
— Não sei por quê, mas ainda estou preocupado. Ela é muito vulnerável.
“E eu sou tão competente”, pensou Maude, um tanto aborrecida, mas achando graça.
Quando Charles falou com o Dr. Cosgrove sobre Ellen, o médico disse:
— Ela está num estado de euforia, como às vezes acontece com uma pessoa que esteve quase morrendo e recuperou a saúde. A vida adquire um colorido que nunca teve antes. Há um brilho em tudo, uma nova alegria de viver, uma descoberta. Quando isso passar, ela estará completamente amadurecida, de certo modo invencível, e levará uma vida feliz durante muitos anos, uma vida satisfeita e equilibrada. Terá capacidade de resistir a quase tudo. E, assim o espero, terá esquecido aquela tolice de “amar e confiar”, como diz a respeito de todo mundo, a não ser, é claro, quando se trata de Deus.
— Você parece tão realista quanto um advogado, George.
— Pois bem, tenho ouvido tanta coisa em minha profissão, que fico às vezes admirado por não sermos todos varridos da face da terra inocente. Por falar nisso, espero libertar Ellen de sua inocência, que tem sido a sua maior inimiga. Espero mesmo torná-la mais sofisticada, com um pouco de humor cético. Acha que é esperar demais?
— Pois bem, conforme disse um filósofo alemão... Fichte?... nascemos o que somos e nada pode mudar isso.
— Nascemos também com uma dose de autorrespeito e de individualismo, Charles, e com um traço de egoísmo sadio. Deveríamos cultivar isso nos jovens, ou acabaremos todos, a América principalmente, choramingando como crianças e reclamando nossas mamadeiras... à custa de alguém.
— Mudar Ellen e fazer com que suas boas qualidades latentes apareçam farão com que se torne outra pessoa, George. Fico imaginando...
— Espero que isso aconteça! Ela tem sido vítima das pessoas que ama e em quem confia, durante tempo demais. — O médico riu. — Quando ela começar a fazer também algumas vítimas, estará curada!
Capítulo 44
Kitty, naturalmente, não sabia que o casal Godfrey voltara a Nova York antes da data esperada. Mas sabia que Francis voltaria de Washington na noite de 10 de novembro. Não haveria, portanto, interferência em seus planos e nos planos dos filhos de Ellen. Um ou dois dias antes, ela os esclarecera quanto à sua “ideia”.
— Pode ter certeza de que seremos bem sucedidos — disse ela a Christian, que tinha suas dúvidas. — Seus inimigos estão fora e sua mãe está sozinha, queridos. Precisamos agir imediatamente... isto é, se for esta a intenção de vocês.
— Não temos escolha — interveio Gabrielle. — É agora, ou nunca. Amanhã talvez seja tarde demais. Veja o que aconteceu hoje ao mercado! Até mesmo meus corretores estão sombrios e, quando um corretor fica desanimado, é tempo de... como é mesmo que se diz?... dar o fora.
Gabrielle telefonou para a mãe, falando em tom suave e amoroso:
— Mamãe, você está ocupada hoje à tarde? Christian, eu e Kitty gostaríamos de um drinque... quero dizer, um chá... às quatro horas. Isto é, se lhe convier. — Ao dizer isso, piscou para o irmão.
Ellen ficou radiante.
— Venham mesmo! Está um dia triste, sombrio e ventoso, com a neve caindo lá fora. Eu estava pensando o que poderia fazer hoje, a não ser ler. Estou ficando tão irrequieta, Gabrielle! Parece que, o tempo todo, estou querendo ir ao teatro, aos museus, às galerias de arte! Estive pensando em tomar aulas de dança, para poder acompanhar vocês, jovens. Não é mesmo uma vergonha?
— É, sim — respondeu Gabrielle, em tom mais do que irônico. Desligou o telefone e virou-se para o irmão: — Sim, precisamos agir agora. A velha louca está pensando em tomar aulas de dança moderna! Que fará, em seguida? Divorciar-se de Francis e provavelmente arranjar outro marido. Isso não me causaria surpresa. É infantil, para não dizer senil. Chame os seus advogados, Chris, explique-lhes tudo e peça-lhes que nos encontrem do lado de fora da casa da querida mamãe, às quatro horas. É imperativo.
— Estou pensando em Charles Godfrey — disse Christian.
— Que poderá ele fazer, quando tudo estiver decidido? Depois de tudo assinado e entregue? A única maneira de ele destruir nossos planos, ou de mudá-los, será provando que mamãe é incompetente e que não sabia o que estava fazendo. E isso só nos beneficiaria, não é?
Animada com a visita dos filhos queridos, Ellen pôs um vestido novo, de veludo brilhante, azul. Usou o colar de safiras, assim como os brincos e a pulseira — último presente de Jeremy. Pensou no cabelo. Os fios grisalhos agora estavam macios; os fios ruivos brilhavam, cheios de vida. Ela pensara em cortar o cabelo, mas ficara imaginando se isso teria agradado a Jeremy. Enrolou-o numa imitação de cabelo curto. O penteado lhe ficou muito bem. Pediria a opinião de Gabrielle e de Kitty, hoje à tarde. Afinal de contas, não tinha nem quarenta e quatro anos e não podia ser considerada velha. É verdade que a pobre tia May, nessa idade, era uma velha, abatida pela vida, pela fome e pela exaustão. Ellen fez uma pausa. Pensou em May com tristeza e afeto, mas sem a antiga e destruidora sensação de culpa. Conforme lhe dissera o Dr. Cosgrove, ela fizera todo o possível por uma mulher doente e sofredora -— e fizera-o com amor. Se aquela tia não a compreendera, queixando-se sempre, Ellen precisava lembrar-se de que a moléstia frequentemente afeta o gênio das pessoas. Ele dissera ainda que Ellen deveria lembrar-se apenas de que a tia a amara e trabalhara para ela, e que em retribuição a sobrinha lhe dera tudo aquilo de que fora capaz. Ninguém poderia esperar mais.
— Uma falsa sensação de culpa é destruidora — dissera ele a Ellen. — É também uma espécie de masoquismo, uma autoflagelação... uma... uma... — Hesitou um momento, depois sorriu largamente para Ellen. — Vou usar uma expressão dos psiquiatras. Frequentemente tem uma origem sexual. Uma autossatisfação voluptuosa. Uma espécie de masturbação.
Ellen corara, mas depois rira, sacudindo a cabeça. O médico continuara:
— Tive casos em que os pacientes chegaram a alugar chicoteadores para “puni-los” de pecados que eles imaginavam ter cometido. Depois vinha o orgasmo e os pacientes se sentiam muito melhor.
— Oh, Dr. Cosgrove! — exclamara Ellen. Mas rira novamente. — Está aplicando isso a mim?
— Pois bem, não exatamente. Mas a insistência em sentir culpa é muitas vezes a capa de um desejo sexual. Principalmente quando não há motivo de culpa. É estranho, mas os verdadeiros culpados nunca sentem culpa. Têm certeza de que estão com a razão, ou foram forçados a fazer o que fizeram, ou tinham uma justificativa. É por isso que os maus odeiam suas vítimas; precisam de uma razão para sua maldade. Uma boa razão.
— Não há dúvida de que adquiri uma nova maneira de encarar as pessoas — dissera Ellen. — Não sei se gosto delas, mas, pelo menos, é real.
O médico ficara satisfeito.
— Nosso Senhor não pediu que andássemos desarmados neste mundo perigoso. Para dizer a verdade, São Pedro e outros usavam uma espada.
Pensando nisso agora, sorrindo, usando um perfume de jasmim, Ellen desceu a escada cantarolando e dirigiu-se à biblioteca, a fim de esperar pelos filhos e por Kitty. Sentou-se ao piano e tocou uma peça de Debussy, as notas erguendo-se e brilhando no ar como douradas bolhas de espuma. Ela podia vê-las dançando no fogo da lareira e tilintando como campainhas. Às quatro horas, a governanta, mulher competente e esforçada, anunciou a Ellen a chegada das visitas. Ellen largou o piano e correu como uma mocinha, cheia de expectativa. Mas ficou surpreendida ao ver dois estranhos com Christian e Gabrielle, dois homenzinhos cinzentos, de rosto astuto e inteligente e olhos penetrantes.
Sem nada dizer, ela os fez entrar. Kitty também viera, usando um mantô de zibelina. Ellen notou, com súbita consternação, que seus filhos tinham uma expressão grave, até mesmo sombria, e que Gabrielle parecia ter chorado. Quanto a Kitty, dirigiu-se a Ellen em voz baixa, perguntando-lhe solicitamente se ela estava “bem”.
— Você parece tão cansada, querida, e está muito pálida. Não dormiu bem a noite passada? — Beijou o rosto de Ellen como quem beijasse uma inválida.
— Estou muito bem — gaguejou Ellen, olhando para os dois homens.
— Mamãe, estes são meus advogados, o Sr. Witcome e o Sr. Spander — disse Christian. — Senhores, minha mãe, a Sra. Porter, que se está recuperando apenas... é o que esperamos... de uma moléstia prolongada. Precisamos ser breves. Ela ainda está em condições precárias.
Os dois homens inclinaram-se diante de Ellen com ar lúgubre e falaram de um modo suave e claro, como aqueles que têm cuidado para não perturbar a fragilidade de uma pessoa seriamente doente. Ellen ficou confusa.
— Façam o favor de entrar na biblioteca — disse ela. Foi à frente, olhando de vez em quando por sobre os ombros para os dois desconhecidos. — Advogados, Christian? Mas, por quê? Há alguma coisa errada?
— Muito errada — declarou o rapaz.
— Oh, mamãe, sentimos muito — interveio Gabrielle.
— Não perturbem demais sua mãe — disse Kitty, em tom alto e insistente. — Vocês sabem como ainda está doente. Precisamos ter cuidado.
— Cuidado... por quê? — perguntou Ellen. Lembrou-se de ser cortês. — Façam o favor de sentar-se. O chá será servido assim que eu tocar a campainha. Ou alguém gostaria de um xerez?
Os dois advogados pareciam irmãos gêmeos, vestidos de maneira igual e sombria. Tinham feições definidas e, no entanto, inexpressivas. Colocaram as pastas nos joelhos e cruzaram as mãos. Quando o fogo brilhava sobre eles, era como se brilhasse em espetos. Kitty abrira o manto, mas não o tirara. Olhou para o lado; o fogo iluminou-lhe o rosto, que parecia contorcido por alguma tristeza ou uma emoção terrível. A perplexidade de Ellen aumentou, mas um medo doentio começou a crescer dentro dela. Virou-se para os filhos. Começara a tremer, como não tremia havia muito tempo. Perguntou a Christian:
— Por favor, que aconteceu? É o mercado?
Christian inclinou tanto a cabeça que o queixo quase lhe chegou ao peito. Contorceu as mãos e, em voz baixa, respondeu:
— Não. Que importância tem o mercado, quando estamos tão preocupados com você, mamãe?
— Mamãe querida — disse Gabrielle, com lágrimas nos olhos, estendendo a mão para Ellen com ar súplice.
Ellen olhou para a mão estendida; gostaria de pegá-la mas, por uma razão desconhecida, não podia tocar na filha.
— Será que perdi todo o meu dinheiro? — perguntou. Tentou sorrir. — Pois bem, não se preocupem, queridos. Charles foi muito cauteloso. Garanto que sobrou alguma coisa. Se é isso o que os preocupa...
— Acha que é por isso que estamos todos aqui? — gritou Kitty, em tom apaixonado. — Você nos insulta, Ellen. Estamos aqui para ajudá-la, para salvá-la.
— Salvar-me de quê? — Agora Ellen estava realmente amedrontada. — Digam-me o que isso significa. Por que é que você está aqui, Christian, com seus advogados?
— Para salvá-la — respondeu ele. — Salvá-la de ladrões, de médicos mentirosos, de pessoas que roubariam tudo de você e quereriam interná-la...
— Internar-me! — exclamou Ellen. Agora sentia frio no corpo todo, como se este fosse de pedra. — Façam o favor de acabar com este mistério e digam-me o que ele significa!
— Tenha paciência, mamãe querida — pediu Gabrielle, chorando. — Você sabe como a amamos, que queremos ajudá-la...
Ellen fitou-a com uma firmeza estranha, que a filha nunca vira antes, nela. Com uma franqueza que assustou Gabrielle, perguntou:
— Não foi você quem sugeriu que eu fosse internada, há muito tempo?
— Internada? — Agora Gabrielle estava amedrontada e abalada. Olhou para Kitty e depois para o irmão. Ambos tinham ficado rígidos.
— Sim — disse Ellen. Virou-se para Kitty. — Foi você quem mencionou isso, há pouco tempo. Perguntei-lhe de quem fora a sugestão e você se mostrou evasiva. Lembra-se, agora?
O rosto moreno e enrugado de Kitty ficou rubro. Ela não ousava olhar para os dois jovens.
— Não me lembro de semelhante coisa, Ellen! Francamente! Sou sua melhor amiga! Acha que lhe mentiria? Algum dia lhe menti?
Kitty virou-se para os advogados, que tinham ficado atentos como fox terriers.
— Ellen terá que confessar que durante muito tempo, muito tempo, tinha alucinações e ilusões, ouvindo vozes. Terá que reconhecer isso. Não é verdade, Ellen?
Ellen ficou em silêncio por alguns momentos, enquanto os outros esperavam por sua resposta. Depois, disse:
— Sim, eu estava doente. Não conseguia conformar-me com a morte de meu marido. Eu tinha me casado de novo, um casamento... inadequado. Prejudiquei Francis. Mas tudo isso já passou. Recuperei completamente a saúde.
O Sr. Witcome perguntou, em voz baixa e rouca:
— Quem lhe disse isso, Sra. Porter?
— Meu médico, o Dr. Cosgrove.
Lentamente, o advogado tirou uns papéis da pasta.
— Não vou incomodá-la... no seu estado atual... Sra. Porter. Acredite-me, compreendo-a e procurarei poupá-la o mais possível. Tenho aqui uns depoimentos, feitos há mais de um ano, do Dr. Lubish e do Dr. Enright, declarando que a senhora estava sofrendo seriamente das faculdades mentais e que precisava ser internada, para poder sobreviver. Era essa a opinião deles.
Ellen estava pálida e rígida. Finalmente disse, mal podendo controlar a voz:
— Eles não são mais meus médicos. Tenho um médico particular, o Dr. Cosgrove, que me curou.
Gabrielle inclinou-se para ela e perguntou:
— Mamãe, quem foi que a persuadiu a ir procurar o Dr. Cosgrove?
Ellen piscou e respondeu:
— Ora, foi você, Gabrielle. Mas descobri que fora por sugestão de Charles.
Gabrielle atirou a cabeça para trás e deu uma risada amarga:
— Sugestão dele? Que mentiroso! A ideia foi minha e de Christian, porque você não parecia estar melhorando.
Ellen não pôde impedir que sua antiga desconfiança de Charles e de Maude voltasse, apertando-lhe o coração. Fechou as mãos com força sobre os joelhos.
— Você vai acreditar num homem como Charles Godfrey, que não a deixa ter uma renda suficiente, em vez de acreditar em seus filhos, que a amam? — perguntou Gabrielle. — Garanto-lhe que ele teria ficado contente, se você tivesse sido internada, para poder apoderar-se de seus rendimentos e gastá-los à vontade.
— Você acredita mais na palavra dele do que na nossa? — perguntou Christian, fitando a mãe com seus grandes olhos azuis. — Deseja sinceramente acreditar nisso, mamãe?
— Como é que pode ser tão injusta com seus filhos amorosos? — perguntou Kitty.
Agora, a monstruosa sensação de culpa começou a insinuar-se em Ellen, a antiga sensação mutiladora. Ellen sentiu a cadeira balançar. Olhou para os filhos e a dor do amor a deixou abalada. Seus filhos não a enganariam. Só queriam o que fosse melhor para ela. Mas, então, alguma coisa resistiu a ess.a sensação de culpa, como se fosse uma mão forte.
— O que é que vocês querem de mim, Gabrielle, Christian? A que tudo isso conduz?
Eles nunca a tinham visto assim. Jamais a tinham ouvido falar desse jeito, e por alguns momentos se sentiram consternados e impotentes. Christian olhou para os advogados; estes apenas retribuíram o olhar, impassíveis, à espera.
Odiando mais ainda a mãe pela força que ela demonstrava, prejudicial a ele, Christian disse:
— Mamãe, vou falar com muita simplicidade. Você nunca compreendeu coisas complicadas; a culpa não é sua. Há uma coisa... Bem, isso não importa. Sabe? Alguém está planejando interná-la, alegando que você é louca, que não anda boa da cabeça desde que papai morreu. Queremos salvá-la disso, deixar que fique em paz em sua casa.
Os olhos azuis de Ellen brilharam, fixando-se no rosto do filho.
— Quem é que está fazendo isso, Christian?
— Mamãe, você confia tanto em pessoas que são suas inimigas! Deve acreditar em nossa palavra. Não há tempo a perder. Amanhã talvez seja tarde demais. Nossos advogados, aqui, trouxeram uns documentos para você assinar. Kitty assinará como testemunha. Você dará a mim, a Gabrielle e aos nossos advogados, procuração para administrarmos toda a sua fortuna, assim como seus interesses futuros nos bens deixados por nosso pai. Nós lhe daremos, então, uma renda adequada para você viver, em sua própria casa, a casa de nosso pai, da qual você tanto gosta, e a deixaremos viver em paz e em segurança. Durante toda a sua vida, que esperamos seja longa e sadia... depois que você sarar.
Ellen continuou fitando-o. Algo de extraordinário lhe estava acontecendo, como se sua alma estivesse ficando de aço. Era como se ela olhasse para pessoas desconhecidas. Todos os avisos do Dr. Cosgrove e do Padre Reynolds acorreram como um exército salvador, para protegê-la. Mas, com eles, veio uma desolação que ela jamais conhecera, mais terrível do que quando ficara sabendo da morte de Jeremy. Sentiu-se como que suspensa sobre um abismo, sem ter onde se agarrar. Estava só, como jamais estivera. Mas disse:
— Preciso pensar em tudo isso. Preciso falar com Charles, com o Dr. Cosgrove...
— Seus inimigos — interveio Gabrielle, e agora havia nos olhos dela uma franca expressão de ódio pela mãe. — Você quer consultá-los, indo contra nós, seus filhos? Como agirão eles, quando você os consultar? Farão com que fiquemos desonrados; poderiam mesmo fazer com que fôssemos presos... e isso só porque a amamos e queremos salvá-la! Seus inimigos. Eles nos destruiriam, a nós, seus filhos, que viemos hoje aqui para ajudá-la. Agora vejo que nunca nos amou! Nunca amou ninguém, a não ser você mesma! Sempre foi a sua vontade que prevaleceu... e a dos outros que fosse para o inferno! Como é que pudemos amá-la tanto e tão estupidamente! Você não é uma mãe para nós, afinal de contas. Ou então... Diga-me, mamãe, Charles Godfrey está fazendo chantagem com você sobre alguma coisa? Chantagem? Só pode ser isso.
Ellen ouvira, consternada.
— Chantagem? Você está desorientada, Gabrielle. Por que motivo haveria alguém de fazer chantagem comigo? Que é que fiz?
Então, Christian falou, em tom macio e feio:
— Seu passado, mamãe, seu passado. Os advogados esmiuçaram tudo. Seu passado, em Preston e em Wheatfield, mamãe.
Ellen ficou boquiaberta, sacudindo a cabeça como que para livrar-se de um pesadelo.
— Meu passado?
— Oh, mamãe — disse Christian, desanimado. — Nossos avós nos contaram, muito antes de morrer, quando fomos visitá-los em Preston. Se Charles Godfrey cumprisse sua ameaça, você não poderia mais viver em Nova York. Não teria um único amigo. Sua desonra seria total. Você enganou nosso pai, deixando que pensasse que era uma mocinha simples e boazinha, quando se casaram... Foi o que nossos avós nos contaram. Mas você era apenas uma...
— Cuidado! — disse o Sr. Witcome.
— Cuidado, nada! — exclamou Christian. — Pode-se ler a verdade no rosto dela, agora. Pois bem, isso já passou. Não queríamos relembrar esses fatos, mas fui obrigado a isso. Para preveni-la de que não somente há... pessoas... dispostas a fazer chantagem com você, como a interná-la para o resto da vida. Sinto dizer isso, mas foi necessário. — Olhou de novo para Ellen. — Pense no que isso iria fazer à reputação de meu pobre pai! Ele tem um suficiente número de inimigos, até hoje. Ora, a cidade toda riria dele! A reputação de nosso pai. Creio que nem pensou nisso, mamãe. Agora, quer assinar estes papéis?
Ellen tinha impressão de que estava com sabão na boca, sentindo-se mal, como nunca se sentira, nem mesmo quando estivera a ponto de morrer.
— É tudo por causa de dinheiro, não é?
Os advogados estavam admirados. Aqueles clientes tinham feito com que eles acreditassem que ela era uma antiga criada, inculta, que não entendia de dinheiro e nem da realidade, uma mulher estúpida, meio louca, que precisava ser internada num sanatório, por estar mentalmente perturbada. Pior ainda, uma mulher cuja reputação, na mocidade, fora péssima, e que seduzira um homem sensível, induzindo-o a casar-se com ela. Pois bem, via-se que devia ter sido muito bonita, e os homens são homens, e essas mulheres sempre fazem certos homens de tolos.
Agora os dois advogados se entreolharam, com ar de dúvida. Olharam para Kitty, que estava ofegante, com expressão maligna no rosto. Eles tinham tido casos semelhantes. Eram homens cautelosos; antes de agir, queriam ter certeza do terreno em que pisavam.
— As coisas parecem confusas — disse o Sr. Spander. — Talvez devêssemos conversar com o senhor, Sr. Porter, e com a Srta. Gabrielle. Parece que aqui há mais alguma coisa além da necessidade de internar sua mãe, ou de persuadi-la... no seu próprio interesse... a assinar estes documentos.
Viraram-se para Ellen. Ela estava rígida e com expressão trágica. Somente seus olhos tinham vida. Brilhavam como um fogo azulado, mas, apesar disso, suas feições exprimiam um sofrimento tão grande que era quase insuportável a quem tivesse algum sentimento humano. Era raro os dois advogados sentirem piedade. Agora tiveram compaixão de Ellen. Estavam também muito constrangidos. Levantaram-se.
— Nós nos veremos de novo, Sr. Porter, quando o senhor desejar. Nesse meio tempo...
Mas Christian gritava com a mãe e seu ódio era visível.
— Pense no que isso irá fazer a Gabrielle... e a mim, quando todos ficarem sabendo do seu passado! Quando souberem que foi tratada por psiquiatras durante longo tempo... porque é louca! Louca! Não somente você se verá obrigada a sair de Nova York, como nós, também. Nosso futuro ficará arruinado. Uma cidade inteira rindo, justamente quando eu estava começando a me firmar! Pensou nisso, mamãe querida? Ou, como sempre, está pensando apenas em você mesma, em sua ganância, em seus desejos estúpidos?
Ellen continuou fitando-o. Voltou-se depois, lentamente, para Gabrielle.
— Sim, eu estava enganada, o tempo todo. Vocês sempre me odiaram, desde a infância. Agora compreendo tudo. Tentei fugir da verdade, a verdade que seu pai insinuou. Sempre procuro fugir da verdade.
A voz de Ellen era muito calma. Ninguém poderia saber do vazio dentro dela, da tristeza que era mais do que tristeza, do sofrimento que era mais do que sofrimento, da doença que era mortal. Seu rosto se tornara menor e enrugado, mas os olhos continuavam brilhantes.
— Sempre amei as pessoas erradas, sempre confiei em quem não devia... com exceção de seu pai. Desconfiei de meus amigos verdadeiros e antipatizei com eles. Não sou muito inteligente, não é?... por ter acreditado nas mentiras de meus filhos, por tê-los amado. Vocês tentaram fazer com que me sentisse culpada, por suas próprias razões, que agora me são claras. Mas não sinto culpa, a não ser em relação a Maude e a Charles, porque não acreditei que fossem meus amigos. — Ela respirou profundamente e prosseguiu: — Como poderei viver com isso, sabendo o que vocês são, vocês, meus próprios filhos? Ah, mas viverei. Suportarei. Vocês não irão destruir-me, como querem. Deus me deu forças para resistir-lhes, para afastá-los de minha lembrança, para esquecê-los para sempre.
Apesar disso, grandes lágrimas rolavam pelas faces da pobre mulher.
— Não tenho filhos. Vocês nunca foram meus.
Os advogados saíram disfarçadamente; ninguém os viu partir. Ellen virou-se para Kitty.
— Quanto a você... minha amiga... fui prevenida. Por Jeremy, pelo próprio Francis, por Charles e pelo Dr. Cosgrove. Tudo está claro para mim, agora. Posso olhar para o passado, desde que a conheci, Kitty Wilder. Você foi minha inimiga, desde o princípio. Não sei por que sempre me odiou; eu lhe era dedicada. Você me odiava, sim. Não sei qual o motivo; não me interessa.
— Mas você precisa saber! — gritou Kitty, com um sorriso de alegria selvagem. — Aguentei-a, assim como seus amigos a aguentaram, só por causa de Jeremy, do pobre e iludido Jeremy! Procurei torná-la civilizada, fazer de você uma dama, por causa de Jeremy. Foi tudo inútil, não foi? Seu lugar é na cozinha, menina, e sempre será. Pronto! Finalmente você sabe a verdade!
Mas Ellen estava anormalmente calma. Levantou-se e encarou os três, seus filhos, sua amiga. Disse:
— Por favor, saiam de minha casa e nunca mais voltem aqui. Não os conheço. Nunca os conheci.
As lágrimas corriam mais depressa. Ellen continuou:
— Se ao menos vocês tivessem deixado que eu acreditasse numa mentira! Se ao menos tivessem vindo dizer-me francamente, honestamente, que precisavam de dinheiro! Eu, sua mãe, os teria ajudado no que fosse razoável. Mas não sou a mãe de vocês. A mãe que conheceram está morta. Esta mulher aqui não quer mais saber de vocês. Façam o favor de sair da minha casa.
Os reflexos do fogo na lareira dançaram no rosto de Ellen, aquele rosto que tinha uma expressão terrível e desconhecida. Os dois jovens souberam que estavam derrotados e ficaram desesperados. O ódio deles era insano. Então, Christian perdeu o controle. Deu uma bofetada no rosto da mãe; ela cambaleou e teria caído se não tivesse agarrado a tempo as costas de uma cadeira. Mas continuou olhando para o filho, e não havia medo em seu rosto, aquele rosto calmo e imóvel.
— Maldita! — gritou Christian. — Sua cadela, sua insignificante, sua ladra! Por que não morre e não nos torna felizes com o seu dinheiro, o dinheiro de nosso pai, que nos pertence, a nós e não a você. Por que não morre?
Ele teria dado em Ellen com o punho fechado, dirigido para o seio que o amamentara, mas Gabrielle interveio.
— Christian! Você quer matá-la? Ela não merece que você vá para a prisão ou para a cadeira elétrica por causa dela! — Segurou o braço erguido do irmão e continuou segurando-o, mesmo quando Christian tentou empurrá-la. — Christian!
— Vocês já quase me mataram, meus filhos — disse Ellen. — Mas viverei, para que vocês nada tenham, até que aquilo que ainda sobra de mim venha a morrer.
— Morrer! — gritou Christian — Para que serve você, sua miserável e lamurienta criatura?
Gabrielle olhou para a mãe, viu sua imobilidade, a palidez, os olhos cheios de lágrimas e, pela primeira vez na vida sentiu uma ponta de remorso, de vergonha, e isso quase a desconcertou.
— Vocês sempre quiseram que eu morresse — disse Ellen, olhando apenas para o filho. — Estava ali, visível, todos estes anos. Vocês não ousaram matar-me abertamente, como uma pessoa honesta o teria feito. Tentaram matar-me por intermédio de seus médicos, com drogas, ameaças e crueldade. Não o conseguiram, porque Deus e meus amigos estavam comigo.
Qualquer coisa enorme se quebrou dentro de Ellen, sangrando, mas ela não fraquejou. Olhou para Gabrielle.
— Minha filha — disse, sem emoção. — Você, também.
O rosto cor de oliva de Gabrielle tinha agora um tom de açafrão. Ela desviou o olhar.
— Vamos, Christian. Está tudo acabado.
— Não, não está — interveio Kitty. — Tenho uma coisa para dizer a esta mulher que renegou os próprios filhos e não levantaria, agora, um dedo para salvá-los da ruína. Porque vocês estão arruinados, sabem?
Deu um passo quase elegante, em direção a Ellen. Nunca parecera tão maligna e triunfante. Virou a cabeça de lado, apontou o dedo magro para Ellen e arreganhou os dentes num sorriso.
— Agora é a minha vez. Você sempre disse que era somente a lembrança do amor de Jeremy que a mantinha viva. Fala dele como se Jeremy ainda gostasse de você e estivesse vivo.
Kitty continuou, após uma ligeira pausa:
— Vou dizer-lhe a verdade, agora. Ele nunca a amou! Desprezava-a! Fugia de você sempre que podia... em busca de outras mulheres. Você o entediava profundamente. Jeremy não suportava ficar a seu lado.
A voz de Ellen ergueu-se, nítida:
— Você é uma mentirosa, Kitty. Sempre foi uma mentirosa.
— Ah, ah! Sou, mesmo? Aqui estou eu, uma mulher de boa reputação, que poderia perder essa reputação e está a ponto de perdê-la. Fui amante de Jeremy durante anos, sua idiota! Dormi com ele na minha cama. Ele me segurou em seus braços, beijou-me e me fez confidências. Porque você estava muito doente, porque ele não podia suportá-la mais. Beijou meus seios; deitou-se em cima de mim. Você não acredita?
Ellen ficou em silêncio. Seus olhos pareciam tomar todo o seu rosto. Kitty riu alto, um riso estridente e malvado. Ergueu a mão e jurou:
— Perante Deus, estou dizendo a verdade! Ele foi meu amante durante anos e anos. Havia ocasiões em que você o enfurecia com a sua estupidez. Não fui a única. Emma Bedford também foi amante dele... Assim como muitas outras. Acha que um homem arranja amantes, e as conserva quando ama a esposa? Até você, sua imbecil, deve saber que não!
Estendeu a mão onde brilhava uma opala grande, cercada de brilhantes.
— Olhe para isto! Ele me deu este anel no meu aniversário, dois anos antes de morrer. — Levou a mão à boca e beijou o anel apaixonadamente, enquanto lágrimas escorriam por suas faces. — Meu querido, meu Jeremy, meu amante! Jamais o esquecerei!
Ellen acreditou. Teve certeza de que Kitty contara a verdade. Pareceu-lhe que flutuava na escuridão; sentiu uma dor terrível na cabeça e no coração; teve impressão de que ia morrer. Jeremy não a amara. Traíra-a. Não fora culpa dele. A culpa fora dela. Ellen não tivera o direito de casar-se com ele, de destruir a vida dele. Tia May tivera razão, a princípio. A vida de Jeremy fora desgraçada, porque ela se casara com ele. Durante todos aqueles anos... Jeremy a aguentara, por ser um homem honrado e estar casado com ela. Ellen lembrou-se de como ele parecera sombrio, abstrato, inúmeras vezes. Ela fizera aquela coisa monstruosa para ele, e Jeremy não a deixara por piedade, e não por amor.
Ellen fechou os olhos, ainda agarrada à cadeira. Não sentira dor quando o filho lhe dera uma bofetada. Pouco a pouco, não sentiu mais nenhuma dor. Quando finalmente abriu os olhos, percebeu que estava só.
Só. Nunca tivera um marido; nunca tivera Jeremy. Nunca tivera ninguém, na vida. Não sentia pena de si mesma. Sentia apenas uma culpa mortal, uma angústia que ninguém poderia descrever. Apesar disso, não havia nela nenhum sofrimento real. Estava desencarnada.
Vivera uma mentira, enganara a si própria a vida inteira. Acreditara que era amada por um homem infeliz que não pudera, finalmente, suportar a presença dela e arranjara por amante, para consolar-se, uma mulher como Kitty. Kitty Wilder! Mas era tudo um sonho.
Os sonhos precisam ter um fim. Mas, enquanto vivemos, temos que sonhar. Somente a morte poderia pôr fim à ilusão. Somente a morte poderia acabar com a dor. Mas, primeiro, a pessoa precisava fazer penitência pelos crimes contra os outros. Depois, paz e esquecimento.
— Perdoe-me, Jeremy — murmurou, na sala vazia onde brilhava o fogo da lareira. Depois, virou-se, dirigindo-se para a escada, lentamente, mas com firmeza.
A governanta apareceu.
— Posso servir o chá, madame? — perguntou.
Mas Ellen não a ouviu. Subiu a escada e não hesitou uma única vez, não olhou para trás uma só vez.
Capítulo 45
Andando quase que serenamente, Ellen dirigiu-se para a bonita caixa de música, alemã, que Jeremy lhe dera anos antes. Havia uma figurinha de porcelana em cima. Quando a música tocava, ela rodopiava suavemente, erguendo os bracinhos pálidos e curvando-se. Dentro da caixa estavam escondidos vários comprimidos amarelos, que Ellen começara a guardar havia muitos anos, comprimidos para dormir, que, tomados em grande quantidade, poderiam matar. Ela contou-os e seus dedos não vacilaram. Vinte e cinco. Ellen chegou mesmo a sorrir. Disse, em voz alta:
— Eu sabia que um dia iria precisar deles.
Agora estava muito calma, até mesmo em paz. Olhou para o retrato de Jeremy. Subiu na cama e beijou-o humildemente, não nos lábios, como de costume, e sim na mão.
— Perdoe-me, querido — disse ela. — Por favor, per-doe-me pelo mal que lhe fiz, querido.
Despiu-se. Não sentia nenhuma emoção; nada de sofrimento, de terror, de desespero, nem sensação de ter sido traída. Nem mesmo tinha consciência de sua casa, dos empregados que ali moravam. Havia apenas um vazio, soando suavemente com a cadência da caixinha de música, e nada mais existia no mundo, nem mesmo dentro dela. Vestiu uma camisola de seda e rendas, dependurou cuidadosamente o vestido. Escovou os cabelos. A imagem no espelho não era Ellen Porter. Não existia; pertencia a outra mulher. Havia nela um desligamento, como um sonho silencioso e sem substância. Ellen encheu um copo com água e, de pé, lenta e metodicamente foi tomando os comprimidos, com olhos fixos, vazios, que nada viam. A realidade a abandonara. Apesar disso, estava vivendo a única verdadeira realidade que jamais conheceria.
Não pensava em nada. “Os pensamentos são para os vivos”, disse de si para si. E ela já estava morta. Suspirou. Era o suspiro de uma criança que renunciara a tudo, e estava cansada, e logo adormeceria. No sono, ela esqueceria o pesadelo de viver. Repetiu o que Pope dissera: “Esta longa moléstia — a minha vida ”.
Apagou a luz do abajur e deitou-se na cama, cobrindo-se com a colcha de seda e fechando os olhos. Lentamente, um calor delicioso foi tomando conta dela, uma suavidade, uma noite envolvente como uma ternura sussurrada, e ela sorriu, dormiu e murmurou apenas uma vez.
Estava caminhando no antigo jardim do qual se lembrava, atravessando gramados onde caíam os últimos raios de sol. Havia nas árvores uma névoa perfumada, a grama era macia sob seus pés. O jardim era infindável. Usava um vestido longo e pálido, estampado de violetas e um grande chapéu de palha, enfeitado com as mesmas flores. Levava na mão uma única rosa branca, o caule balançando em seus dedos, as folhas parecendo esmeraldas polidas. Seus passos se tornaram mais vivos. Começou a correr, sem fôlego e sorrindo, como quem vai a um encontro marcado. O sol resplandeceu por entre as folhas das árvores, os pássaros começaram a cantar; havia, ao longe, um murmúrio de fontes.
Um rapaz alto apareceu no outro lado do gramado, saindo da floresta, e adiantou-se rapidamente para ela, estendendo-lhe os braços e sorrindo.
— Jeremy! — disse Ellen. — Oh, Jeremy!
Correram um para o outro. Ele pegou-a e abraçou-a. Ellen sentiu o calor de Jeremy, sentiu segurança, alegria, paz e amor infinitos. — Os lábios dele beijaram os dela. Ellen ergueu os braços e colocou-os à volta do pescoço do marido.
— Você me encontrou. Você nunca me esqueceu — disse ela. Seu rosto era o de uma jovem de dezessete anos.
— Nunca a perdi — disse ele. — Sabia, o tempo todo, onde você estava. E agora, meu amor, iremos para casa juntos e nunca mais nos separaremos.
— Foi um sonho terrível, Jeremy — disse ela, segurando a mão do marido.
— Sim, mas foi apenas um sonho. Agora você está em casa, comigo.
“Foi um acidente”, disseram. Ela estivera muito doente, disseram eles. Mas “neles” não estavam incluídos os assassinos de Ellen Porter, pois não falaram uns com os outros. Em todo caso, dali por diante Gabrielle esfriou com o irmão. Também ela estava curada de uma antiga doença.
Francis Porter ficou arrasado. Ao chegar à casa, a governanta lhe dissera que a Sra. Porter parecera doente e fora cedo para a cama. Tinham ido chamá-la para jantar, mas “estava dormindo, tão calma, que eu não quis acordá-la”. À meia-noite o próprio Francis fora até o quarto de Ellen, pois estava apreensivo. Ninguém respondera à sua batida. Ele olhara dentro do quarto e, à luz fraca do corredor, vira a esposa dormindo. Murmurara: “Ellen? Já voltei de Washington”. Ela não respondera. O silêncio, no quarto, era tão profundo que Francis não quisera perturbá-lo. Fechara a porta suavemente, com amor. Cansado da viagem, fora para o seu quarto. Não conseguira ver nenhuma pessoa que valesse a pena, em Washington, cidade que estava num estado de pânico e cheia de boatos.
— Por que será que ela fez isso? — perguntou Maude ao marido, chorando.
Mas ele não achou resposta. O mesmo aconteceu com o Dr. Cosgrove, que disse a Charles:
— Ninguém tem resposta para coisa alguma do que acontece no mundo. Ellen, pelo menos, ficou livre do cansaço de viver, das decepções e das traições. Está em paz. É só o que podemos esperar. — Fez uma pausa. — Ninguém pode salvar outra pessoa. Podemos, apenas, salvar-nos a nós mesmos.
Ellen Porter foi enterrada no dia 13 de novembro. Nesse dia, a República dos Estados Unidos também foi enterrada, para nunca mais viver. Foi o fim de uma era.
Em suas orações, o Padre Reynolds referiu-se a ambos: “Requiescat in pace”. Suas lágrimas eram para a mulher morta e para sua pátria. De certo modo, ele sentia que Ellen encarnara a América e que com ambas morrera a inocência. Ambas tinham sido traídas pela confiança.V
Taylor Caldwell
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















