



Biblio VT




Prometera a Max Bõhm visitá-lo uma última vez antes da grande abalada.
Nesse dia pairava uma trovoada sobre a Suíça romanda.
O céu rasgava-se em profundezas negras e azuladas donde jorravam lampejos translúcidos. Um vento quente soprava em todas as direcções. Guiando um cabriolé de aluguer, eu deslizava à beira das águas do lago Léman. No fim de uma curva surgiu-me Montreux, como que envolta na atmosfera eléctrica. As águas do lago agitavam-se e os hotéis, apesar da época turística, pareciam condenados a um silêncio de mau agoiro. Abrandei nas imediações do centro, metendo pelas ruas estreitas que conduzem ao alto da cidade.
Quando cheguei ao chalé de Max Bõhm era quase noite. Deitei uma olhadela ao meu relógio: dezassete horas. Toquei à porta e esperei. Ninguém respondeu. Insisti e arrebitei as orelhas. Nada mexia no interior. Dei a volta à casa: nenhuma luz, nenhuma janela aberta. Esquisito. Pelo que pudera verificar aquando da minha primeira visita, Bõhm pertencia ao grupo das pessoas pontuais. Regressei ao carro e enchi-me de paciência. Uns ribombos surdos troavam lá no fundo do céu. Fechei a capota do automóvel. Às dezassete e trinta, o homem ainda não dava sinal de si. Decidi deslocar-me às cercas. Talvez o ornitólogo tivesse ido observar as suas pupilas.
Tomei o caminho da Suíça alemã pela cidade de Bulle. A chuva ainda não caía, mas o vento redobrava, soerguendo nuvens de poeira sob as rodas do carro. Uma hora mais tarde, alcancei as imediações de Wessembach, ao longo dos campos vedados. Desliguei o motor e dirigi-me através dos campos ao encontro das gaiolas.
Avistei as cegonhas por detrás do gradeamento. Bico cor de laranja, plumagem branca e negra, olhar vivo. Pareciam impacientes. Batiam furiosamente as asas e faziam estalar o bico. Era a tempestade, sem dúvida, mas também o instinto migratório. Acudiram-me ao espírito as palavras de Bõhm: ”As cegonhas contam-se entre os migradores instintivos. A sua partida não é desencadeada por condições climáticas ou alimentares, mas por um relógio interno. Um dia, chega a altura de abalar, mais nada!”. Estávamos no fim do mês de Agosto e as cegonhas deviam estar a sentir este misterioso sinal. Não longe dali, nos prados, outras cegonhas iam e vinham, sacudidas pelo vento. Tentavam igualmente levantar voo, mas Bõhm ”espantara-as”, quer dizer, depenara a primeira falange de uma das suas asas, desequilibrando-as e impedindo-as de voar. Este ”amigo da natureza”, bem vistas as coisas, tinha uma estranha concepção da ordem do mundo.
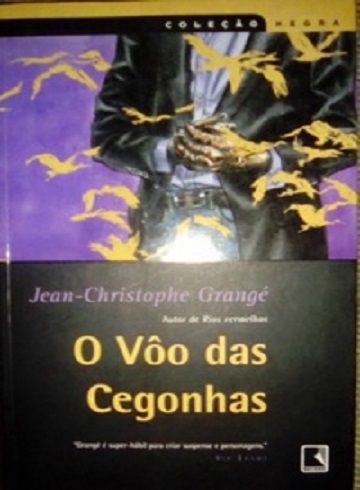
De repente, um homem escanzelado surgiu dos campos confinantes, curvado ao vento. Odores a ervas cortadas chegavam em tropel e eu sentia uma dor de cabeça invadir-me o crânio. O esqueleto gritou de longe qualquer coisa em alemão. Berrei, por meu turno, umas frases em francês, Ele respondeu logo, na mesma língua: - Bõhm não veio hoje. Nem ontem, de resto. - O homem era calvo e umas escassas madeixas esfiapadas dançavam-lhe por cima da testa. Não cessava de as alisar contra o crânio. Acrescentou: - Habitualmente, vem todos os dias dar de comer aos bichos.
Metí-me outra vez no carro e precipitei-me a caminho do Ecomuseu. Uma espécie de museu em tamanho natural, não longe de Montreux, onde alguns chalés tradicionais suíços haviam sido reconstruídos, respeitando o mínimo pormenor.
Em cada uma das chaminés estava instalado um casal de cegonhas, sob a alta responsabilidade de Max Bõhm.
Não tardei a penetrar na aldeia artificial. Fui a pé através das ruelas desertas. Deambulei por longos minutos neste labirinto de casas castanhas e brancas, como que habitadas pelo nada, e finalmente descobri o campanário - uma torre escura e quadrada, com mais de vinte metros de altura. No topo pontificava um ninho de dimensões gigantescas, do qual somente se enxergavam os contornos. ”O maior ninho da Europa”, dissera-me Max Bõhm. As cegonhas estavam lá em cima, na sua coroa de ramos e de terra. Os seus estralejos de bico ressoavam nas ruas vazias como o brado de mandíbulas desmultiplicadas. Nem rastro de Bõhm.
Voltei para trás e procurei a casa do vigia. Encontrei o guarda-nocturno em frente da televisão. Comia uma sanduíche enquanto o seu cão se regalava com umas bolinhas de carne dentro da gamela. - Bõhm? - disse ele com a boca cheia. Veio anteontem ao campanário. Fomos buscar a escada. Lembrava-me da máquina infernal utilizada pelo ornitólogo para alcançar o ninho: uma escada de bombeiros, ancestral e carunchosa. - Mas não tornei a vê-lo desde então. Nem sequer arrumou o material.
O homem encolheu os ombros e acrescentou:
- Bõhm está aqui como em sua casa. Vem quando lhe apetece.
Em seguida mordiscou um bocado de sanduíche, em jeito de conclusão. Uma intuição confusa atravessou-me o espírito.
- Importa-se de ir buscá-la outra vez?
- O quê?
- A escada,
Saímos para o meio da borrasca, com o cão a roçar-nos as pernas. O guarda caminhava em silêncio. Não apreciava o meu projecto nocturno. já ao pé do campanário, abriu as portas da granja contígua à torre. Tirámos a escada, fixada sobre duas rodas de carroça. O engenho parecia-me mais perigoso do que nunca. Todavia, com a ajuda do guarda, desliguei as correntes, as roldanas, os cabos e a escada desenrolou lentamente as suas travessas. A parte superior oscilava ao vento.
Engoli em seco e iniciei a ascensão com prudência. À medida que subia, a altitude e o vento turvavam-me a vista. As minhas mãos aferravam-se às travessas. A vertigem dava-me um nó nas tripas. dez metros. Concentrei-me na parede e subi mais. Quinze metros. A madeira estava húmida e as minhas solas escorregavam. A escada vibrava de alto a baixo, desferindo-me ondas de choque nosjoelhos. Arrisquei um olhar. O ninho estava ao alcance da mão. Suspendi a respiração e galguei as últimas travessas, apoiando-me nos ramos do ninho. As cegonhas voaram. Por breves instantes, não vi mais do que um torvelinho de penas, depois deparou-se-me o pesadelo.
Bõhm estava ali, deitado de costas, com a boca aberta. Tomara lugar no ninho gigante. A camisa descomposta punha a descoberto a sua barriga branca, obscena, maculada de terra. Os seus olhos já não passavam de duas órbitas vazias e sanguinolentas. Ignoro se estas cegonhas traziam bebés, mas o certo é que sabiam ocupar-se dos mortos.
rancuras assepsiadas, tinidos de metal, silhuetas fantasmagóricas. Eu esperava, às três horas da madrugada, no pequeno hospital de Montreux. As portas das urgências abriam-se e fechavam-se. Passavam enfermeiras. Surgiam rostos mascarados, indiferentes à minha presença.
O guarda tinha ficado na aldeia artificial, em estado de choque. Eu próprio não evidenciava uma forma por aí além. Sentia-me todo arrepiado e de ânimo abatido. Nunca contemplara um cadáver. Para uma primeira vez, o corpo de Bõhm era excessivo. As aves haviam começado a devorar-lhe a língua e outras coisas mais profundas, na região faríngea. Encontráramos também feridas múltiplas no abdómen e nos flancos: rasgões, incisuras, entalhes. Mais algum tempo e os voláteis tê-lo-iam devorado inteiramente: ”Sabe que as cegonhas são carnívoras, não é verdade?”, dissera-me Max Bõhm por ocasião do nosso primeiro encontro. Agora já não havia maneira de eu esquecer.
Os bombeiros tinham descido o corpo do seu poleiro, sob voo vagaroso e desconfiado das aves. E foi no solo, pela derradeira vez, que mirei as carnes de Bõhm, cheias de crostas e de terra, antes de o embrulharem numa capa roçagante. Seguira este espectáculo lunar e intermitente sob os faróis giratórios, sem emitir a mínima palavra e sem experimentar o mínimo sentimento, confesso. Só uma espécie de ausência, de recuo assustado.
Agora esperava. E pensava nos últimos meses da minha existência - esses dois meses de fervor e de aves que terminavam em estilo de oração fúnebre.
Eu era então umjovem correcto sob todos os aspectos. Aos trinta e dois anos, acabava de obter um doutoramento em História. O resultado de oito anos de esforços, a propósito do
Conhecia médicosjovens que se tinham lançado na ajuda humanitária, dispostos a ”perder um ano” - era assim que eles se exprimiam. Advogados em embrião que haviam calcorreado a índia e saboreado o misticismo antes de abraçarem uma carreira. Por fim, não tinha nenhum ofício em vista, nenhum gosto pelo exotismo nem pela desgraça dos outros. Então, uma vez mais, os meus pais adoptivos vieram em meu socorro.
Logo, Georges e Nelly Braesler tinham-me sugerido que entrasse em contacto com Max Bõhm, um dos seus amigos suíços, que andava à procura de alguém do meu género .”Do meu género?”, perguntara, enquanto tomava nota da morada de Bõhm. Responderam-me que iria estar sem dúvida ocupado durante alguns meses. Tratariam mais tarde de me arranjar uma situação estável.
Em seguida, as coisas haviam tomado uma feição inesperada. E a primeira entrevista com Max Bõhm, equívoca e misteriosa, permanecia gravada em pormenor na minha memória.
Nesse dia, 17 de Maio de 1991, cerca das dezasseis horas, cheguei ao n 3 da rue du Lac, depois de ter palmilhado demoradamente as ruas estreitas das colinas de Montreux. À saída de uma praça, ornada de candeeiros medievalescos, descobri um chalé cuja porta de madeira maciça indicava ”Max Bõhm”. Toquei. Decorreu um longo minuto, depois um homem de uns sessenta anos, de ar sólido, abriu a porta com um largo sorriso. ”É Louis Antioche?”, perguntou. Disse que sim e entrei em casa de M. Bõhm.
O interior do chalé assemelhava-se ao bairro. Os compartimentos eram pequenos e amaneirados, flanqueados de recantos, estantes e cortinados que, visivelmente, não escondiam qualquer janela. O solo estava coberto de numerosos degraus e estrados. Bõhm arredou uma tapeçaria e convidou-me a descer atrás dele, para um profundo subsolo. Penetrámos numa sala de paredes esbranquiçadas, mobilada apenas por uma secretária de madeira de carvalho sobre a qual se destacavam uma máquina de escrever e uma quantidade de documentos. Por cima estavam pendurados um mapa da Europa e outro de África, e múltiplas imagens de aves. Sentei-me. Bôhm ofereceu-me chá. Aceitei com prazer (só bebo exclusivamente chá). Em poucos gestos rápidos, Bõhm sacou de um termos, chávenas, açúcar e limões. Enquanto se atarefava, observei-o mais atentamente.
Era baixo, maciço, e o cabelo cortado à escovinhajá tinha encanecido completamente. Um curto bigode, não menos branco, cruzava-lhe o rosto redondo. O seu encorPamento dava-lhe um aspecto encrespado e gestos pesados, mas o seu semblante respirava uma estranha bonomia. Os olhos franzidos, sobretudo, pareciam estar sempre a sorrir.
Serviu o chá, com precaução. As suas mãos eram espessas, os dedos sem graça. ”Um homem rude”, pensei. Também transparecia nele algo de vagamente militar - um passado de guerra ou de actividades brutais. Sentou-se por fim, entrelaçou as mãos e começou numa voz suave:
- Quer então dizer que pertence à família dos meus velhos amigos, os Braesler?
Tossiquei para desobstruir a garganta:
- Sou filho adoptivo deles.
- Sempre julguei que não tinham filhos.
- De facto, não têm filhos naturais. - Vendo Bõhm calado, prossegui: - Os meus verdadeiros pais eram amigos íntimos dos Braesler. Aos sete anos de idade perdi a minha mãe e o meu pai, mortos num incêndio juntamente com o meu irmão. Não possuía mais família. O Georges e a Nelly adoptaram-me.
- A Nelly falou-me das suas aptidões intelectuais.
- Receio que ela tenha exagerado um bocadinho nesse capítulo. - Abri a minha pasta. - Trouxe-lhe um curriculum vitae.
Bõhm afastou a folha com a palma da mão. Uma mão enorme, poderosa. Uma mão capaz de partir punhos só com dois dedos. Replicou:
- Tenho toda a confiança nojuízo da Nelly. Ela falou-lhe da sua ”missão”? Preveniu-o de que o assunto se refere a algo de muito especial?
- A Nelly não me disse nada.
Bõhm ficou silencioso e observou-me. Parecia espiar a mais pequena das minhas reacções.
- Na minha idade, a ociosidade leva a algumas manias.
O meu apego por certos seres aprofundou-se consideravelmente.
- De que se trata? - inquiri.
- Não são pessoas.
Calou-se. Era evidente que apreciava o mistério. Finalmente, murmurou:
- Trata-se de cegonhas.
- De cegonhas?
- Ouça, sou um amigo da natureza. Há quarenta anos que as aves me interessam. Quando era novo, devorava os livros de ornitologia, passava horas na floresta de binóculo em punho, a perscrutar cada espécie. A cegonha branca ocupava um lugar particular no meu coração. Gostava dela acima de tudo, porque é uma extraordinária ave migratória, capaz de percorrer mais de vinte mil quilómetros todos os anos. No final do Verão, quando voavam em direcção a África, eu também seguia ao lado delas, com toda a minha alma. De resto, mais tarde escolhi um trabalho que me permitiu viajar e acompanhar estas aves. Sou engenheiro de obras públicas, senhor Antioche, agora aposentado. Durante toda a minha vida arranjei maneira de trabalhar em grandes construções, no Médio Oriente, em África, na rota das aves. Hoje, já não saio daqui, mas continuo a estudar a migração. Escrevi vários livros sobre este tema.
- Não percebo nada de cegonhas. O que espera de mim? -já lá vou. - Bebeu uma golada de chá. - Desde que estou reformado, aqui em Montreux, as cegonhas portam-se às mil maravilhas. Todas as Primaveras, os meus casais regressam e instalam-se precisamente no mesmo ninho. É tão certo como dois e dois serem quatro. Ora, este ano as cegonhas do Leste não voltaram.
- Aonde quer chegar?
- Dos setecentos casais migradores recenseados na Alemanha e na Polónia, menos de cinquenta apareceram no céu em Março e em Abril. Esperei várias semanas. Até que fui ver pessoalmente. Mas não pude fazer nada. As aves não regressaram.
O ornitólogo pareceu-me de súbito mais velho e mais solitário. Perguntei:
- Tem alguma explicação?
- Talvez haja no meio de tudo isto uma catástrofe ecológica. Ou o efeito de um novo insecticida. Mas são apenas uns ”talvez”. E eu quero certezas.
- Como posso ajudá-lo?
- No próximo mês de Agosto, dezenas de cegonhazinhas vão partir, como todos os anos, e seguir a sua via migratória. Quero que as acompanhe. Dia após dia. Quero que percorra o itinerário delas, sem tirar nem pôr. Quero que observe todas as dificuldades que vão encontrar. Que interrogue os habitantes, as forças policiais, os ornitólogos locais. Quero que descubra o motivo por que as minhas cegonhas desapareceram.
As intenções de Max Bõhm assombravam-me.
- Não será o senhor mil vezes mais qualificado do que eu para...
-Jurei nunca mais pôr os pés em África. Por outro lado, tenho cinquenta e sete anos. O meu coração é muito frágil. já não posso deslocar-me para o próprio terreno.
- Não tem um assistente, um jovem ornitólogo que possa efectuar a investigação?
- Não gosto de especialistas. Quero um homem sem preconceitos, sem conhecimentos, um ser aberto, que parta ao encontro do enigma. Aceita ou não?
- Aceito - respondi sem hesitar. - Quando devo partir?
- Com as cegonhas, no fim de Agosto. A viagem durará cerca de dois meses. Em Outubro, as aves estarão no Sudão. Se alguma coisa acontecer, será, julgo eu, antes desta data. Caso contrário, deve regressar e o caso ficará por esclarecer. O seu salário será de quinze mil francos por mês, mais ajudas de custo. Remunerá-lo-á a nossa associação: a APCE (Associação para a Protecção da Cegonha Europeia). Não somos muito endinheirados, mas preparei as melhores condições de viagem: voos em primeira classe, carros de aluguer, hotéis confortáveis. Ser-lhe-á entregue um primeiro adiantamento em meados de Agosto, juntamente com os bilhetes de avião e as reservas. Acha a minha proposta razoável?
- Pode contar comigo. Mas diga-me primeiro uma coisa. Como conheceu os Braesler?
- Em 1987, por ocasião de um colóquio ornitológico organizado em Metz. O tema em debate era ”A cegonha em perigo, na Europa Ocidental”. O Georges fez igualmente uma intervenção muito interessante, a propósito dos grous cinzentos.
Mais tarde, Max Bõhm levou-me através da Suíça de visita a algumas das cercas onde criava cegonhas domésticas, cujas crias se tornavam aves migratórias - as mesmas que eu iria seguir. Explicou-me os princípios do meu périplo ao longo do caminho. Em primeiro lugar, conhecia-se aproximadamente o itinerário das aves. Em seguida, as cegonhas só percorriam uma centena de quilómetros por dia. Enfim, Bõhm dispunha de um meio seguro de assinalar as cegonhas europeias: os anéis. Todas as Primaveras, fixava nas patas das cegonhas juvenis um anel indicativo da sua data de nascimento e do seu número de identificação. Armado de um binóculo, podia-se assim distinguir as aves ”dele” todas as tardes. A estes argumentos vinha juntar-se o facto de se corresponder em cada país com ornitólogos que iam ajudar-me a responder às minhas perguntas. Em tais condições, Bõhm não duvidava de que eu descobriria o que se passara durante a última Primavera na rota das aves.
Três meses mais tarde, a 17 de Agosto de 1991, Max Bõhm telefonou-me completamente sobreexcitado. Voltava da Alemanha, onde verificara a iminência da abalada das cegonhas. Depositara na minha conta bancária uma prestação de cinquenta mil francos (dois salários adiantados, mais uma quantia para as primeiras despesas) e enviava-me, por D.H.L, os bilhetes de avião, os documentos para os carros de aluguer e a lista dos hotéis reservados. Acrescentara um bilhete ”Paris-Lausana”. Desejava encontrar-se comigo uma última vez, a fim de estudarmos juntos os dados do projecto.
Assim, pus-me a caminho no dia 19 de Agosto às sete horas da manhã carregado de guias, vistos e medicamentos. Limitara o meu saco de viagem ao mínimo possível. O conjunto das minhas coisas - incluindo o computador - cabia numa bagagem de grandeza média, à qual se juntava uma pequena mochila. Estava tudo em ordem. Em contrapartida, o meu coração era atormentado por um caos indizível: esperança, excitação e apreensão misturavam-se numa confusão ardente.
oje, porém, estava tudo acabado. Ainda antes de começar. Max Bõhm jamais saberia o motivo por que as cegonhas tinham desaparecido. E eu também não, de resto. Em boa verdade, a minha investigação terminava com a sua morte. Ia devolver o dinheiro à associação, voltar aos meus livros. A minha carreira de viandante fora meteórica. E não me sentia admirado com este desfecho gorado. Afinal de contas, nunca passara de um estudante ocioso, Não havia qualquer razão para me tornar num aventureiro dos diabos de um dia Para o outro.
Mas ainda esperava, aqui, no hospital, pela chegada do inspector federal e pelo resultado da autópsia. Sim, porque havia autópsia. O médico de serviço iniciou-a logo depois de ter recebido a autorização da polícia - aparentemente, Max Bõhm já não tinha família. O que acontecera ao velho Max? Uma crise cardíaca? Um ataque de cegonhas? A questão merecia resposta, e era sem dúvida por isso que dissecavam agora o corpo do ornitólogo.
- Louis Antioche é o senhor?
Absorto nos meus pensamentos, não reparara no homem que acabava de se sentar a meu lado. A voz era doce, o rosto também. Uma cara comprida e de feições delicadas sob uma madeixa revolta. O homem pousava em mim uns olhos sonhadores, ainda velados de sono. Não tinha feito a barba, e adivinhava-se que isso não era frequente. Envergava umas calças de tecido leve e bem cortado, uma camisa Lacoste de um azul-violáceo. Estávamos praticamente vestidos da mesma maneira, excepto que a minha camisa era preta e uma caveira substituía nela o crocodilo.
Retorqui: - Sim. É da polícia?
Confirmou e juntou as mãos, como num sinal de prece:
- Inspector Dumaz. De serviço, esta noite. É um caso bicudo. Foi você que o encontrou?
- Sim.
- Como estava ele?
- Morto.
Dumaz encolheu os ombros e puxou de um canhenho:
- Em que circunstâncias o descobriu?
Contei-lhe as minhas buscas da véspera. Dumaz tomava notas, devagar. Inquiriu:
- É francês?
- Sim. Moro em Paris.
Anotou o meu endereço com precisão.
- Conhecia Max Bõhm há muito?
- Não.
- Qual era a natureza das vossas relações? Resolvi mentir:
- Sou ornitólogo amador. Combináramos organizar um programa educativo sobre diferentes aves.
- Quais?
- A cegonha branca, principalmente.
- Qual é a sua profissão?
- Terminei há pouco os meus estudos.
- Que género de estudos? Ornitologia
- Não. História, Filosofia.
- E que idade tem?
- Trinta e dois anos.
O inspector emitiu um ligeiro assobio: - Teve sorte em poder consagrar-se à sua paixão durante tanto tempo. Sou da sua idade e trabalho na polícia hájá treze anos.
- A História não me apaixona - respondi num tom áspero.
Dumaz fitou a parede em frente. O mesmo sorriso sonhador deslizou sobre os seus lábios:
- O meu trabalho também não me apaixona, garanto-lhe. Olhou-me de novo: - Em sua opinião, desde quando estava Max Bõhm ali morto?
- Desde a antevéspera. Na tarde do dia 17, o guarda viu-o subir ao ninho e não o viu descer de lá.
- De que é que acha que ele morreu?
- Não faço a mínima ideia. Talvez de um ataque de coração. As cegonhas tinham começado a... alimentar-se dele.
- Vi’o corpo antes da autópsia. Quer acrescentar alguma coisa?
- Não.
- Vai ter de ir assinar o seu depoimento na esquadra central da cidade. Estará tudo pronto ao fim da manhã. Aqui tem o endereço. - Suspirou. - Esta morte irá dar que falar. Bõhm era uma celebridade. Deve saber que ele reintroduziu as cegonhas na Suíça. São coisas que tomamos aqui muito a peito.
Calou-se, depois soltou uma risada:
- Traz uma camisa muito estranha... Pode dizer-se que é bem adaptada às circunstâncias.
Esperava esta observação desde o início. Uma mulher morena, pequena e atarracada, surgiu e livrou-me do embaraço. A sua bata branca estava manchada de sangue e tinha um rosto barroso e sulcado de rugas. Do género que já viveu e que já não vai em cantigas. Coisa extraordinária naquele universo amortecido, ela usava saltos que estalavam a cada um dos seus passos. Aproximou-se. O seu hálito tresandava a tabaco.
- Estão aqui por causa do senhor Bõhm? - perguntou numa voz roufenha.
Levantámo-nos. Dumaz fez as apresentações:
- Louis Antioche, estudante, amigo de Max Bõhm. Senti uma pontinha de ironia na sua voz. - Foi ele que descobriu o corpo esta noite. Eu sou o inspector Dumaz, da polícia federal.
- Catherine Warel, cirurgiã cardíaca. A autópsia foi demorada - disse ela limpando a testa perlada de suor. - O caso era mais complicado do que o previsto. Antes de mais nada, devido aos ferimentos. Bicadas, em cheio na carne. Parece que o descobriram num ninho de cegonhas. O que fazia ele lá em cima, santo Deus?
- Max Bõhm era ornitólogo - esclareceu Dumaz num tom melindrado. - Espanta-me que não o conhecesse. Era muito célebre. Protegia as cegonhas na Suíça.
- Ah! - volveu a mulher, sem grande convicção.
Puxou de um maço de cigarros fortes e acendeu um. Reparei na placa que indicava a proibição de fumar e compreendi que esta mulher não era suíça. Continuou, depois de expelir uma longa baforada:
- Voltemos à autópsia, cuja descrição dactilografada lhe darão ainda hoje de manhã. Apesar de todas as feridas, é claro que o homem morreu de um ataque cardíaco, ao anoitecer do dia 17 de Agosto, por volta das vinte horas. - Virou-se para mim. - Sem si, o cheiro teria acabado por alertar os visitantes. Mas há uma coisa surpreendente. Sabia que Bõhm sofrera um transplante cardíaco?
Dumaz deitou-me uma olhadela interrogativa. A doutora prosseguiu:
- Quando a equipa descobriu a longa cicatriz ao nível do esterno, chamaram-me para orientar a autópsia. O transplante não oferece a mínima dúvida: há, primeiro que tudo, a cicatriz característica da esternotomia, depois umas aderências anormais na cavidade pericárdica, sinal de uma antiga intervenção. Determinei igualmente as suturas do enxerto, ao nível da aorta, da artéria pulmonar, das aurículas esquerda e direita, feitas com fios não-reabsorvíveis.
Aspirou uma nova baforada.
- A operação data manifestamente de há vários anos prosseguiu ela -, mas o órgão foi admiravelmente tolerado: em geral, descobrimos no coração transplantado uma profusão de cicatrizes esbranquiçadas que correspondem aos pontos de rejeição: por outras palavras, a células musculares necrosadas. Logo, o transplante de Bõhm é bastante interessante. E, segundo pude ver, a operação foi praticada por alguém que sabia do ofício. Ora, já me informei: Max Bõhm não era assistido por nenhum médico nosso. Eis um pequeno mistério que deve ser elucidado, meus senhores. Efectuarei eu própria a minha pesquisa. Quanto à causa do óbito, nada de original. Um banal enfarte do miocárdio, sobrevindo há cerca de cinquenta horas. Sem dúvida por causa do esforço de subir lá acima. Se pode servir de consolação, Bõhm não sofreu qualquer dor.
- O que pretende dizer? - perguntei.
Warel soprou uma longa lufada de nicotina no espaço assepsiado.
- Um coração enxertado é independente do sistema nervoso de acolhimento. Sendo assim, um ataque cardíaco não provoca a mínima dor particular. Max Bõhm não se sentiu morrer. Aqui têm, meus senhores. - Voltou-se para mim. Vai tratar do funeral?
Hesitei por instantes:
- Infelizmente, devo partir em viagem... - repliquei.
- Pois seja - atalhou ela. - Veremos isso. A certidão de óbito ficará pronta esta manhã, - Dirigiu-se a Dumaz. Posso falar consigo por um momentinho?
O inspector e a médica despediram-se de mim. Dumaz acrescentou:
- Não se esqueça de ir assinar o seu depoimento, ao fim da manhã.
Depois abandonaram-me no corredor, ele com o seu ar muito doce, ela com os saltos que estralejavam. Não sobejamente alto, no entanto, Para que me escapasse esta frase murmurada pela mulher: ”Há um problema...
Là fora, o alvorecer lançava sombras de metal, alumiando com um brilho cínzeo as ruas adormecidas. Atravessei Montreux sem respeitar os semáforos, encaminhando-me directamente para a casa de Bõhm. Não sei bem porquê, mas a perspectiva de um inquérito sobre o ornitólogo assustava-me. Desejava destruir qualquer documento a meu respeito e reembolsar de forma incógnita a APCE, sem imiscuir a polícia no assunto. Não havendo indícios, livrar-me-ia de sarilhos.
Estacionei discretamente, a cem metros do chalé. Verifiquei primeiro se a porta da casa não estava fechada à chave, em seguida voltei ao carro e tirei do meu saco um intercalar de plástico maleável. Penetrei nos aposentos do falecido Max Bõhm. Na penumbra, o interior do chalé parecia mais reduzído, mais confinado do que nunca. Era já a casa de um morto.
Desci ao escritório, situado no subsolo. Não tive a mínima dificuldade em deitar a mão ao dossier ”Louis Antioche”, pousado bem à mostra. Havia ali o recibo da transferência bancária, as facturas dos bilhetes de avião, os contratos de aluguer. Li também as notas que Bõhm tomara sobre mim a partir das declarações da Nelly Braesler:
”Louis Antioche. Trinta e dois anos. Adoptado pelos Braesler aos dez anos de idade. Inteligente, brilhante, sensível. Mas inactivo e desencantado. Deve ser manejado com prudência. Conserva traumatismos do seu acidente. Amnésia parcial”.
Assim, ao cabo de tantos anos eu ainda permanecia um caso crítico para os Braesler - um desequilibrado. Virei a folha, não havia nada. A Nelly não dera nenhum esclarecimento sobre o drama das minhas origens. Tanto melhor. Apoderei-me do dossier e prossegui as buscas. Nas gavetas descobri a documentação ”Cegonhas”, semelhante à que Max me preparara no primeiro dia, contendo os contactos e múltiplas informações. Levei-a igualmente.
Era tempo de partir. No entanto, movido por uma obscura curiosidade, continuei a espiolhar, um pouco ao acaso. Num móvel de ferro, da altura de um homem, encontrei milhares de fichas consagradas às aves. Encostadas verticalmente umas às outras, as suas bordas ostentavam várias cores. Bõhm explicara-me este código de cores. A cada acontecimento e informação era dada uma tonalidade: vermelho = fêmea; azul = macho; verde = migradora; rosa = acidente de electrocussão; amarelo = doença; preto = falecimento... Assim, num só olhar ao topo das fichas, Bõhm podia seleccionar as secções que lhe interessavam, conforme o tema das suas pesquisas.
Ocorreu-me uma ideia: consultei a lista das cegonhas desaparecidas, depois procurei algumas das suas fichas nessa gaveta. Bõhm utilizava uma incompreensível linguagem cifrada. Verifiquei apenas que as desaparecidas eram todas elas adultas, com idades de mais de sete anos. Surripiei as fichas. Começava a descambar no roubo. Sempre impelido por uma irreprimível pulsão, esquadrinhei o escritório de cima a baixo. Procurava agora um relatório médico. ”Bõhm é um caso de escola”, dissera a Dra. Warel. Onde se submetera à operação? Quem a efectuara? Não achei nada.
Em desespero de causa, passei a um pequeno desvão contíguo ao compartimento. Max Bõmm soldava aí ele próprio os anéis e utilizava-o como arrecadação dos seus apetrechos de ornitólogo. Por cima do plano de trabalho estavam arrumados pares de binóculos, filtros fotográficos, miríades de anéis, de todos os géneros e de todos os materiais. Também desencantei instrumentos cirúrgicos, seringas hipodérmicas, ligaduras, talas, produtos assépticos. Nas horas vagas, Max Bõhm devia armar-se igualmente em veterinário amador. O universo do velhote surgia-me cada vez mais solitário, centrado em volta de obsessões incompreensíveis. Por fim, subi ao rés-do-chão depois de ter reposto tudo no lugar.
Atravessei rapidamente a divisão principal, a sala de visitas e a cozinha. Só havia ali uns bibelôs suíços, papelada, jornais velhos. Subi aos quartos. Eram três. Aquele onde eu dormira a primeira vez mantinha o seu ar neutro, com a cama pequena e os móveis acanhados. O de Bõhm cheirava a mofo e a tristeza. As cores eram desmaiadas e os móveis acumulavam-se sem razão aparente. Remexi tudo: guarda-fato, escrivaninha, cómodas. Cada móvel estava pouco mais que vazio. Espreitei debaixo da cama, dos tapetes. Descolei pontas de papel pintado. Nada. Salvo uns retratos antigos de uma mulher numa velha caixa de papelão por baixo de um armário. Observei por instantes estas fotografias. Era uma mulher baixa, de feições vagas e silhueta frágil, sobre um fundo de paisagens tropicais. Sem dúvida alguma, a senhora Bõhm. Nos retratos mais recentes cores desbotadas dos anos setenta -, ela parecia andar pelos quarenta anos. Entrei no último quarto. Surpreendi aqui a mesma atmosfera antiquada, mas nada mais. Desci a estreita escada sacudindo o pó que se entranhava nas minhas roupas.
A manhã raiava através das janelas. Um fiozinho dourado afagava as costas dos móveis e as arestas dos múltiplos estrados que, sem razão aparente, pululavam nos quatro cantos da divisão principal. Sentei-me num deles. Decididamente, faltavam muitas coisas naquela casa: o relatório médico de Max Bõhm (um paciente de transplante cardíaco devia possuir uma data de prescrições, scanners, electrocardiogramas ...), as recordações clássicas de uma existência de viajante - bugigangas africanas, tapetes orientais, troféus de caça... -, os vestígios de um passado profissional - nem sequer encontrara registos de aposentação, ou tão-pouco extractos de contas bancárias e folhas de impostos. Supondo que Bõhm quisera passar uma esponja definitiva sobre o seu passado, não teria decerto agido de outra maneira. No entanto devia haver aqui, algures, um esconderijo.
Olhei para o meu relógio: sete e quinze. Em caso de inquérito judiciário, a polícia já não devia tardar, quanto mais não fosse para colocar os selos. Levantei-me a contragosto e dirigi-me para a porta. Abri-a, mas lembrei-me de repente dos degraus. No compartimento maior, os estrados compunham outros tantos esconderijos ideais. Voltei atrás e percuti-os de lado. Eram ocos. Corri lá abaixo, ao desvão, peguei numas ferramentas e tornei logo a subir. Em vinte minutos, abrira os sete degraus da sala de Bõhm, com um mínimo de estragos. Na minha frente patenteavam-se três envelopes de papel de embrulho, lacrados, poeirentos e anónimos.
Regressei ao automóvel e tomei o caminho das colinas que sobranceiam Montreux, à procura de um sítio sossegado. dez quilómetros mais adiante, na curva de uma estrada isolada, estacionei à beira de um bosque ainda encharcado de orvalho. As minhas mãos tremiam quando abri o primeiro envelope.
Continha o processo médico de Irène Bõhm, em solteira Irène Fogel, nascida em Genebra em 1942. Falecida em Agosto de 1977, no Hospital Bellevue, em Lausana, das sequelas de um cancro generalizado. O processo compunha-se apenas de algumas radiografias, diagramas e receitas, rematado por uma certidão de óbito à qual se juntavam um telegrama endereçado a Max Bõhm e uma carta de pêsames do Dr. Lierbaüm, médico assistente de Irène. Contemplei o pequeno envelope. Tinha a morada de Max Bõhm em 1977: avenida Bokassa, 66, Bangui, República Centro-Africana. O meu coração batia descompassadamente. A República Centro-Africana fora a última morada de Bõhm em África. Esse país tristemente célebre pela loucura do seu tirano efémero, o imperador Bokassa. Esse rincão de selva, tórrido e húmido, sepulto no interior da África sepulto também no mais fundo do meu passado.
Abri o vidro e respirei o ar lá de fora, depois continuei a folhear os papéis. Encontrei mais retratos da esposa franzina, mas também outras fotografias representando Max Bõhm e um rapaz de cerca de treze anos, cuja parecença com o ornitólogo era flagrante: a mesma figura baixota, de cabelo louro cortado à escovinha, com olhos castanhos e um pescoço de animal musculoso. Contudo, transluziam nos seus olhos um devaneio, um desapego que não se quadravam com a rigidez de Bõhm. As fotografias datavam visivelmente da mesma época
- os anos setenta. A família estava completa: o pai, a mãe, o filho. Mas o que levava Bõhm a esconder estas imagens banais sob um estrado? E onde estaria hoje este filho?
O segundo envelope só continha uma radiografia torácica, sem data, sem nome, sem comentário. Uma única certeza: na imagem opaca desenhava-se um coração. E, no centro do órgão, recortava-se uma minúscula mancha clara, de contornos precisos, que eu não sabia dizer se era uma imperfeição da imagem ou um coágulo claro ”dentro” do órgão. Pensei no transplante de Max Bõhm. Esta imagem representava sem dúvida um dos dois corações do suíço. O primeiro ou o segundo? Arrumei cuidadosamente a peça.
Por fim, abri o último envelope - e fiquei petrificado. Na minha frente desdobrava-se o espectáculo mais atroz que se pode imaginar. Fotografias a preto e branco que reproduziam uma espécie de matadouro humano, com cadáveres de crianças suspensos de ganchos - fantoches de carne, exibindo rosáceas de sangue no lugar dos braços ou do sexo; rostos de lábios rasgados, órbitas vazias; braços, pernas, membros esparsos, empilhados num canto do açougue; cabeças cheias de crostas acastanhadas e atiradas para cima de compridas mesas, cravando em nós os seus olhos secos. Todos os cadáveres, sem excepção, eram de raça negra.
Este lugar abjecto não era um simples morredouro. As paredes estavam ladrilhadas de branco, como as de uma clínica ou de uma morgue, e instrumentos cirúrgicos brilhavam aqui e além. Tratava-se antes de um laboratório funesto ou de uma abominável sala de torturas. O antro secreto de um monstro que se entregava a práticas medonhas. Saí do carro. Sentia o torso opresso pelo asco e pela náusea. Decorreram assim longos minutos, no meio da frescura matinal. De vez em quando deitava uma nova mirada às imagens. Tentava impregnar-me da sua realidade, amestrá-las, a fim de melhor as abordar. Impossível. A crueza das fotografias, a textura da imagem, conferiam uma presença alucinante àquele exército de cadáveres. Quem podia ter perpetrado semelhantes horrores, e porquê?
Regressei ao automóvel, fechei os três envelopes e jurei não tornar a abri-los tão cedo. Liguei o motor e desci para Montreux com os olhos marejados de lágrimas.
Encaminhei-me para o centro da cidade, depois enveredei pela avenida que se desdobra à beira do lago. Arrumei o carro no parque do Hotel de La Terrasse, claro e majestoso. O sol já derramava a sua luz sobre as águas átonas do Lénian. A paisagem parecia inflamar-se num halo dourado. Instalei-me nosjardins do hotel, em frente do lago e das montanhas enevoadas que emolduravam a paisagem.
Ao cabo de uns minutos apareceu o empregado. Optei por um chá chinês bastante forte. Procurei reflectir. A morte de Bõhm. Os mistérios em torno do seu coração. A busca matinal e as descobertas aterradoras. Era muito para um simples estudante à cata de cegonhas.
- Ultimo passeio antes da partida?
Voltei-me. O inspector Dumaz, bem escanhoado, erguia-se diante de mim. Envergava um casaco leve de tecido castanho e umas calças de linho claro.
- Como é que me encontrou?
- Não tive qualquer mérito nisso. Vocês vêm todos aqui parar, Até parece que todas as ruas de Montreux conduzem ao lago.
- ”Vocês”, quem?
- Os visitantes. Os turistas. - Apontou com o queixo para os primeiros passeantes da manhã, ao longo da margem. Sabe, este sítio é muito romântico. Paira aqui um ar de eternidade, como se costuma dizer. Tem-se a impressão de estar em A Nova Heloísa de jeanjacques Rousseau. Vou confiar-lhe um segredo: todos estes chavões me arreliam. E creio que a maioria dos suíços são como eu.
Esbocei um sorriso:
- Tornou-se de repente muito cínico. Bebe alguma coisa?
- Um café, bem tirado.
Chamei o empregado e pedi uma bica. Dumaz sentou-se ao meu lado. Pôs os óculos de sol e aguardou em silêncio. Escrutava a paisagem com um interesse grave. Quando o café chegou, bebeu-o de uma assentada, depois suspirou:
- Ainda não parei desde que nos separámos. Primeiro, foi a conversa com a Dra. Warel. Sabe, aquela criaturinha tabágica, com a bata cheia de sangue. É nova aqui. Nãojulgo que ela esperasse uma coisa assim. - Soltou uma pequena gargalhada. - Duas semanas em Montreux e eis que lhe trazem um ornitólogo, descoberto num ninho de cegonhas, meio-devorado pelas suas próprias aves! Bem. Ao sair do hospital, voltei a casa para mudar de roupa. Em seguida fui à esquadra, a fim de passar a limpo as suas declarações. - Deu umas palmadinhas no casaco. - Tenho aqui o seu depoimento. Pode assiná-lo já. É inútil deslocar-se. Depois, decidi dar uma saltada a casa de Max Bõhm. O que lá encontrei incitou-me a fazer uns telefonemas. Em meia hora, tinha todas as respostas às minhas perguntas. E vim logo para aqui!
- Conclusão?
- A verdade é que não há conclusão.
- Não percebo.
Dumaz juntou de novo as mãos, apoiando-se na mesa, depois virou-se para mim:
- já lhe disse: Max Bõhm era uma celebridade. Sendo assim, precisamos de um desaparecimento límpido, sereno. Algo de claro e transparente.
- Não é o caso?
- Sim e não. O óbito, à excepção do local singular, não levanta realmente problemas. Um ataque cardíaco. Indiscutível. Mas, ao redor, nada se ajusta. Não gostava de ser obrigado a emporcalhar a memória de um grande homem, compreende?
- Está disposto a dizer-me o que não bate certo? Dumaz fixou-me por detrás das suas lentes escuras:
- É a si que lhe compete informar-me.
- Aonde pretende chegar?
- Qual era a verdadeira razão da sua visita a Max Bõhm?
- Contei-lhe tudo ontem à noite.
- Mentiu-me. Verifiquei alguns elementos. Tenho a prova de que as suas declarações são falsas.
Nada retorqui. Dumaz continuou:
- Quando rebusquei no chalé de Bõhm, dei-me conta de que já lá fora alguém. Diria mesmo, à vista desarmada, que tinham vasculhado ali poucos minutos antes da minha chegada. Telefonei logo para o Ecomuseu, onde Bõhm possuía outro escritório. Um homem como ele devia guardar certos documentos em duplicado. A sua secretária, bastante matinal, aceitou deitar uma olhadela e desencantou nas gavetas dele uma documentação incrível a propósito de cegonhas desaparecidas. Mandou-me por fax as peças principais do conjunto. Devo continuar?
Era a minha vez de observar as águas do lago. Uns minúsculos veleiros sobressaíam no horizonte esbraseado.
- Em seguida, foi o banco. Telefonei para a agência de Bõhm. O ornitólogo acabava de efectuar uma transferência importante. Tenho o nome, a morada e o número de conta do destinatário.
O silêncio adensou-se ainda mais entre nós. Um silêncio cristalino, como o ar matinal, que podia agora quebrar-se em múltiplas direcções. Tomei a iniciativa:
- Desta vez há uma conclusão. Dumaz sorriu e tirou os óculos.
- Tenho cá a minha ideia. Penso que você entrou em pânico. A morte de Bõhm não é assim tão simples. Vamos iniciar um inquérito. Ora, você acabava de receber um cheque chorudo da parte dele, para uma missão específica, e, de uma forma inexplicável, encheu-se de medo. Introduziu-se lá em casa para subtrair os elementos que aludem a si e apagar qualquer vestígio das vossas relações. Não presumo que tenha querido ficar com o dinheiro. Ia sem dúvida devolvê-lo. Mas o arrombamento é grave...
Lembrei-me dos três envelopes. Repliquei, num tom precipitado:
- Inspector, o trabalho que Max Bõhm me propusera dizia unicamente respeito às cegonhas. Não vejo nisto nada de suspeito. Vou restituir o dinheiro à associação que...
- Não há associação.
- Como?
- Não há associação, no sentido em que a entende. Bõhm trabalhava sozinho, e era o único membro da APCE. Pagava a alguns funcionários, fornecia o material, alugava as instalações. Bõhm não precisava do dinheiro dos outros. Era imensamente rico.
O pasmo deu-me um nó na garganta. Dumaz prosseguiu:
- A conta pessoal dele eleva-se a mais de cem mil francos suíços. E Bõhm deve possuir uma conta nalguns dos nossos cofres. A dada altura da sua existência, o ornitólogo entregou-se a uma actividade muito lucrativa.
- O que vai fazer?
- Por enquanto, nada. O homem morreu. Não tem, em princípio, qualquer família. Estou certo de que legou a fortuna a um organismo internacional de protecção da natureza, do tipo ou Greenpeace. Por conseguinte, o incidente está encerrado. No entanto, gostava de aprofundar este caso. E necessito da sua ajuda.
- Da minha ajuda?
- Achou alguma coisa em casa de Bõhm esta manhã?
Os três envelopes surgiram no meu espírito, como meteoros de fogo.
- Além do meu processo individual, nada. Dumaz sorriu incrédulo. Levantou-se:
- Vamos andar ao longo da margem. Admitamos que não encontrou nada - insistiu. Afinal de contas, o homem desconfiava. - Eu próprio já investiguei esta manhã. Não descobri grande coisa. Nem sobre o passado dele, nem sobre a sua misteriosa operação. Deve recordar-se: o transplante cardíaco. Mais um enigma. Sabe o que a Dra. Warel me revelou? O coração transplantado de Bõhm comporta um elemento bizarro, algo que não devia estar ali, uma minúscula cápsula de titânio, o metal com o qual se fabricam certas próteses, suturada na ponta do órgão. Habitualmente, coloca-se no coração transplantado um grampo que permite realizar biópsias mais facilmente. Mas aqui não se trata disso. Segundo Warel, uma tal peça não tem a mínima utilidade específica.
Fiquei em silêncio. Pensei na mancha clara que aparecia na radiografia. Logo, a minha chapa era a do segundo coração. Perguntei, para pôr termo àquilo:
- Em que posso ajudá-lo, inspector?
- Bõhm pagou-lhe para seguir a migração das cegonhas. Vai partir?
- Não. Vou devolver o dinheiro. Se as cegonhas resolveram abandonar a Suíça ou a Alemanha, se foram aspiradas por um tufão gigantesco, não posso fazer nada. E estou-me nas tintas.
- É pena. Essa viagem seria de uma grande utilidade. Comecei, muito sucintamente, a retraçar a carreira do engenheiro Max Bõhm. A sua viagem permitiria, decerto, remontar ao passado dele através da África ou do Próximo Oriente.
- O que tem em mente?
- Um trabalho em duo. Eu permaneceria aqui. Você andaria por esses sítios. Indago do lado da fortuna dele, da operação. Obtenho os lugares e datas das suas diferentes missões. Você segue o rastro dele no terreno, ao longo da pista das cegonhas. Comunicamos regularmente um com o outro. Em poucas semanas poremos em pratos limpos toda a vida de Max Bõhm. Os seus mistérios, as suas benfeitorias, os seus tráficos. Os seus tráficos?
É uma palavra que utilizo um pouco à toa.
O que ganharei nessa aventura?
Uma bela viagem. E a calma proverbial da Suíça. - Deu umas palmadinhas no bolso do casaco. - Assinamos juntos o seu depoimento. E esquecemo-lo.
- E você, o que ganha com isso?
- Muito. Pelo menos, mais do que cheques de viagem roubados ou caniches perdidos. O quotidiano de um mês de Agosto em Montreux não é famoso, pode crer, senhor Antioche. Esta manhã, não acreditei no que me disse acerca dos seus estudos. Ninguém passa dez anos de vida entregue a uma matéria que não o entusiasma. Eu também menti: o meu trabalho apaixona-me. Mas não corresponde ao desejado. Os dias vão passando e o tédio sufoca-me. Quero dedicar-me a algo de sólido. O destino de Bõhm oferece-nos um fantástico assunto
de inquérito, e podemos trabalhar em equipa. Um tal enigma deveria seduzir o seu espírito de intelectual. Pense bem.
- Volto para França e telefono-lhe amanhã. O meu depoimento pode perfeitamente esperar um dia ou dois, não acha?
O inspector aquiesceu sorrindo. Acompanhou-me até ao carro e estendeu a mão para me cumprimentar. Esquivei-me ao gesto mantendo-me no cabriolé. Dumaz sorriu de novo e segurou a porta entreaberta. Após uns instantes de silêncio, perguntou:
- Posso fazer-lhe uma pergunta indiscreta? Acedi com um ligeiro aceno de cabeça.
- O que aconteceu às suas mãos?
A pergunta desconcertou-me. Olhei para os meus dedos, disformes ao fim de tantos anos e cuja pele se ramificava em minúsculas cicatrizes, depois encolhi os ombros:
- Um acidente, quando era criança. Vivia em casa de uma ama que se ocupava de tinturas. Um dia, uma das tintas cheias de ácido despejou-se sobre as minhas mãos. Não sei mais nada.
O choque e a dor apagaram todas as recordações.
Dumaz observava as minhas mãos. Reparara sem dúvida na minha enfermidade desde a noite passada e podia finalmente satisfazer a sua sede de contemplar bem aquelas antigas queimaduras. Fechei a porta num movimento brusco. Dumaz fitou-me e acrescentou numa voz suave:
- Essas cicatrizes não têm nenhuma relação com o acidente dos seus pais?
- Como sabe que os meus pais sofreram um acidente?
- A documentação de Bõhm é muito completa. Arranquei e segui ao longo da margem, sem deitar sequer
uma olhadela ao retrovisor. Alguns quilómetros mais adiante já não me lembrava da indiscrição do inspector. Rodava em silêncio, em direcção a Lausana.
Em breve, espalhadas por um campo ensolarado, avistei um grupo de manchas brancas e pretas. Arrumei o carro e aproximei-me com precaução. Peguei no binóculo. As cegonhas estavam ali. Sossegadas, de bico enfiado na terra, a tomarem o pequeno-almoço. Abeirei-me mais. No meio da claridade dourada, a sua plumagem macia assemelhava-se a veludo. Brilhante, espesso, sedoso. Não tinha nenhum pendor natural para os animais, mas esta ave, com as suas miradas de duquesa despeitada, era deveras particular.
Voltava a ver Bõhm, nos campos de WeÍssembach. Parecia feliz por me apresentar o seu pequeno mundo. Ia por entre os cultivos, rolando a sua solidez a caminho das cercas. Apesar da sua estatura encorpada, deslocava-se com agilidade e ligeireza. Ataviado com a sua camisa de manga curta, calças de pano e binóculo suspenso do pescoço, dir-se-ia um coronel reformado entretido nalguma manobra imaginária. Ao entrar na cerca, Bõhm dirigira a palavra às cegonhas numa voz doce cheia de ternura. De início, as aves tinham recuado, lançando-nos olhares furtivos.
Em seguida, Bõhm alcançara o ninho, colocado a um metro de altura. Era uma coroa de ramos e de terra, com mais de um metro de envergadura, cuja superfície nos surgia plana, limpa e desafogada. A cegonha deixara o seu lugar de má vontade e Bõhm mostrara-me os filhotes que repousavam no centro. ”Seis crias, já viu bem?”. As avezinhas, muito miúdas, tinham uma plumagem acinzentada a atirar para o verde. Abriam uns olhos redondos e aconchegavam-se umas contra as outras. Eu surpreendia aqui uma curiosa intimidade, o cerne de um lar tranquilo. A claridade do entardecer conferia uma dimensão estranha e fantasmagórica a este espectáculo. De repente, Bõhm murmurara: ”Conquistado, não é assim?”. Fitara-o nos olhos e anuíra em silêncio.
No dia seguinte de manhã, quando acabava de me dar um espesso dossier contendo endereços, mapas e fotografias e subíamos a escada do seu escritório, o suíço detivera-me e dissera brutalmente: ”Espero que me tenha compreendido bem, Louis. Este caso é de extrema importância para mim. É absolutamente necessário encontrar as minhas cegonhas e saber o motivo por que desaparecem. É uma questão de vida ou de morte!”. Sob a débil claridade dos últimos degraus, surpreendera no seu rosto uma expressão que me assustara. Uma máscara branca, rígida, como se estivesse prestes a fender-se. Bõhm morria de medo, sem sombra de dúvida.
As aves levantaram voo ao longe, muito devagar. Segui com o olhar o seu demorado bater de asas que rasgava a luz matinal. De sorriso nos lábios, desejei-lhes boa viagem e retomei o caminho.
Cheguei à estação de Lausana ao meio-dia e meia. Daí a vinte minutos partia um TGV com destino a Paris. Encontrei uma cabina telefónica no átrio e interroguei o meu atendedor por descargo de consciência. Havia uma chamada de Ulrich Wagner, um biólogo alemão que conhecera um mês antes durante a minha preparação ornitológica. Ulrich e a sua equipa aprestavam-se para seguir a migração das cegonhas por satélite. Tinham equipado uns vinte espécimes com sinalizadores japoneses em miniatura e iam referenciar assim as aves todos os dias com a maior precisão, graças às coordenadas do satélite Argos. Haviam-me proposto que consultasse esses dados obtidos por satélite, o que me ajudaria imenso, pois evitaria que corresse atrás de minúsculos anéis dificilmente assinaláveis. Oca, a mensagem telefónica dizia: Jã está, Louis! Elas partem!
O sistema funciona às mil maravilhas. Telefone-me. Dar-lhe-ei os números das cegonhas e as respectivas localizações. Bom trabalho!
Assim, as aves apanhavam-me de novo. Saí da cabina. Famílias de faces afogueadas deambulavam pela gare, carregando grandes sacos de viagem que lhes batiam nas pernas. Alguns turistas seguiam o seu caminho com um ar curioso e plácido. Olhei para o meu relógio e voltei à paragem de táxis. Desta feita tomei a direcção do aeroporto.
Depois de ter apanhado um voo Lausana-Viena, aluguei um carro no aeroporto e ao fim do dia penetrei em Bratislava.
Max Bõhm prevenira-me de que esta cidade seria a minha primeira etapa. As cegonhas da Alemanha e da Polónia passavam todos os anos pela região. Daí, poderia circular a meu bel-prazer, surpreendê-las e vigiá-las, segundo as informações de Wagner. Além do mais, dispunha do nome e da morada de um ornitólogo eslovaco, Joro Grybinski, que falava francês. Avançava, pois, em terreno de gente conhecida.
Bratislava era uma grande urbe cinzenta e neutra, estriada de compridas avenidas e quarteirões em ângulo recto por onde transitavam pequenos automóveis vermelhos ou azul-pastel que pareciam apostados em asfixiar a cidade à custa de grandes nuvens negruscas. Esta atmosfera abafadiça era reforçada por um calor intenso. No entanto, eu saboreava cada imagem e pormenor do novo contexto em que me via. A morte de Bõhm e as angústias da manhã pareciam-me já a anos-luz.
Nas suas notas, Max Bõhm explicava que Joro Grybinski era motorista de táxi na gare central de Bratislava. Encontrei o sítio sem dificuldade. Os motoristas de Skodas e de Trabants indicaram-me que joro terminava o seu turno às dezanove horas. Aconselharam-me a esperá-lo num pequeno café em frente da estação. Encaminhei-me para a esplanada onde se atropelavam turistas alemães e lindas secretárias. Tomei um chá e pedi ao empregado que me avisasse quandojoro aparecesse; continuei a perscrutar tudo o que estava na minha linha de mira. Gozava a distância que me separava subitamente da minha vida antiga. Em Paris, residia num vasto apartamento situado no quarto andar de um prédio opulento do bulevar Raspail. Dos seis compartimentos disponíveis, só utilizava três: sala, quarto e escritório. Mas gostava de vaguear por aquela ampla casa, cheia de vazio e silêncio. Este apartamento era uma prenda dos meus pais adoptivos. Mais uma das suas generosidades que me facilitavam a existência, sem suscitarem em mim a mínima gratidão. Detestava os dois velhos.
A meus olhos, não passavam de uns burgueses anónimos que tinham velado por mim, mas à distância. Em vinte e cinco anos, só me haviam escrito algumas cartas e, ao todo, eu só os vira umas quatro ou cinco vezes. Tudo se desenrolava como se eles tivessem feito uma obscura promessa aos meus falecidos pais e a cumprissem com circunspecção, à força de dádivas e cheques. Há muito tempo já que eu não esperava qualquer gesto de ternura da parte deles. Riscara estas duas personagens da minha vida, aproveitando embora o seu dinheiro - com um secreto azedume.
Vira os Braesler pela última vez em 1982 - quando me haviam dado as chaves do apartamento. O velho casal oferecia uma imagem pouco resplandecente. A Nelly tinha cinquenta anos. Pequena e seca como um figo passado, usava umas perucas azuladas e não cessava de lançar risinhos que se assemelhavam a pipilos de pássaros engaiolados. Andava embriagada de manhã até à noite.
Quanto ao Georges, não era muito mais brilhante. Este antigo embaixador de França, amigo de André Gide e de Valery Larbaud, parecia preferir hoje a companhia dos seus grous cinzentos à dos seus contemporâneos. Aliás, já não se exprimia senão por monossílabos e meneios de cabeça.
Eu próprio levava uma existência completamente solitária.
Sem mulher, poucos amigos, nunca saía. Conhecera tudo isto,
a granel, quando tinha vinte anos. Considerava ter esgotado o assunto. Na idade em que habitualmente queimamos os nossos anos em noitadas e excessos, eu mergulhava na solidão, no ascetismo, nos estudos. Durante mais de um decénio, calcorreara bibliotecas, anotara, escrevera, amadurecera mais de mil páginas de reflexões. Entregara-me à grandeza, toda ela abstracta, do mundo do pensamento e à solidão concreta do meu quotidiano diante da cintilação de um computador.
A minha única fantasia era o meu dandismo. Fisicamente, sempre tive dificuldade em descrever-me. O meu rosto é uma mistura. De um lado, uma certa finura: feições cinzeladas por rugas precoces, maçãs aguçadas, uma testa alta. Do outro, pálpebras baixas, um queixo pesado, um nariz caído. O meu corpo apresenta a mesma ambivalência. Apesar da minha elevada estatura e de uma certa elegância, tenho um corpo alentado e musculoso. E por isso punha um cuidado especial na indumentária. Andava sempre vestido com casacos de corte apurado e calças de vinco impecável. Ao mesmo tempo, apreciava certas audácias nas cores, nos motivos, nos mais pequenos pormenores. Pertencia ao número dos que pensam que trajar uma camisa vermelha ou um casaco de cinco botões constitui um verdadeiro acto existencial. Como todas estas coisas me pareciam longe!
O sol descia sobre Bratislava e eu aproveitava cada minuto que passava, ouvindo frases soltas de uma língua desconhecida, respirando a poluição dos carros lastimosos.
Às dezanove e trinta, um homenzinho postou-se diante de mim:
- Louis Antioche?
Levantei-me para o cumprimentar, enfiando logo a seguir as mãos nos bolsos. Joro não me estendeu a dele.
-Joro Grybinski, suponho...
Confirmou com um aceno de cabeça, de ar carrancudo. Assemelhava-se a uma tempestade. Caracóis cinzentos fustigavam-lhe a testa. Os olhos chispavam-lhe no fundo das órbitas.
A boca era amarga, orgulhosa. Devia andar pelos cinquenta anos. Vestia uma fatiota horrível, mas nada poderia alterar a nobreza dos seus traços e gestos.
Expliquei-lhe a razão da minha passagem por Bratislava, dei-lhe conta do meu desejo de surpreender as aves migratórias. O seu rosto iluminou-se. Contou-me logo que observava as cegonhas brancas há mais de vinte anos, que conhecia cada um dos seus abrigos na região. As frases dele, em francês entrecortado, caíam como sentenças. Falei-lhe do princípio da experiência com o satélite e das localizações rigorosas que ia obter. Depois de me escutar atentamente, bailou-lhe um sorriso nos lábios. ”Não é necessário nenhum satélite para encontrar as cegonhas. Venha”.
Metemo-nos no seu carro, um Skoda todo reluzente. À saída de Bratislava, passámos por complexos industriais donde se erguiam chaminés de tijolo, iguais às que ilustram as efígies socialistas. Perseguiam-nos cheiros intensos por entre o calor: ácidos, nauseabundos, inquietantes. Depois surgiram umas imensas pedreiras habitadas por monstros metálicos. Por último, vieram ao nosso encontro os campos desertos e escalvados. Eflúvios de adubos substituíram os odores industriais.
Estas paisagens pareciam votadas a uma produção descomedida - o suficiente para exaurir o coração da terra.
Seguimos através dos campos de trigo, de colza, de milho. Ao longe, uns enormes tractores levantavam nuvens de espigas e poeira. O sol ia-se tornando mais ameno, a atmosfera mais profunda. Enquanto conduzia,joro sondava o horizonte, vendo o que eu não via, parando onde nada parecia diferente.
Por fim, embrenhou-se numa vereda pedregosa onde o silêncio e a calma reinavam como senhores absolutos. Contornámos uma laguna verde e imóvel. Inúmeras aves passavam e voltavam a passar. Garças-reais, grous, milhafres, pica-bois, que desfilavam em tiro agrupado. Mas não havia aves brancas e pretas. Joro fez um esgar. A ausência de cegonhas parecia excepcional. Aguardámos. Joro, impassível como uma estátua, de binóculo em punho. Eu, ao lado dele, sentado na terra abrasada. Aproveitei para o interrogar:
- Põe anéis nas cegonhas? joro largou o binóculo:
- Para quê? Elas vão e vêm. Por que havia de as numerar? Sei onde nidificam, é o bastante. Todos os anos, cada cegonha regressa ao seu próprio ninho. É matemático.
- Durante a migração vê passar cegonhas com anéis?
- Claro que vejo. Até as aponto.
- Ah sim?
- Tomo nota de todos os números que distingo. O local, o dia, a hora. Pagam-me para isso, Um suíço.
- Max Bõhm?
- Esse mesmo.
O ornitólogo revelara-me que joro era uma das suas ”sentinelas”.
- Há quanto tempo lhe paga ele?
- Hájá uns dez anos.
- Por que motivo é que ele o faz, em seu entender?
- Porque é maluco,
E repetiu: - É maluco - rodando a ponta do indicador numa das têmporas.
- Na Primavera, quando as cegonhas voltam, Bõhm telefona-me todos os dias: ”Viste passar tal número? E tal outro? E tal outro ainda?”. Perde a cabeça nessas alturas. No mês de Maio, depois de todas as aves passarem, respira finalmente e não torna a telefonar-me. Este ano foi terrível. Quase nenhuma regressou. julguei que ele ia estourar. Mas não, paga-me e eu efectuo o trabalho.
joro inspirava-me confiança. Expliquei-lhe que também trabalhava para Max Bõhm - sem no entanto lhe dizer que o suíço morrera. Esta situação reforçou a nossa cumplicidade. Aos olhos de joro, eu era um francês, logo, um homem do Ocidente, rico e desprezível. O facto de saber que trabalhávamos ambos para o mesmo homem dissipava nele todos os complexos.
Pôs-se imediatamente a tratar-me por tu. Mostrei-lhe as fotografias das cegonhas e ataquei:
- Tens alguma ideia sobre o desaparecimento das aves?
- Só um certo tipo de cegonhas desapareceu.
- O que significa isso?
- Só as cegonhas com aneis é que não voltaram. Em especial as que tinham dois anéis.
Esta informação era capital. Joro pegou nas fotografias:
- Repara - disse ele, estendendo-me algumas das imagens. - A maior parte das aves trazem dois anéis. Dois anéis
- insistiu. - Ambos na pata direita, acima da articulação. Quer dizer que foram retidas no solo para isso.
- Porquê?
- Na Europa, fixa-se o primeiro anel quando as cegonhazinhas ainda não voam. Para colocar o segundo, é preciso que a ave esteja imobilizada mais tarde, de uma maneira ou de outra: ou doente ou ferida. É nesse momento que lhe fixam o segundo anel, com a data exacta dos cuidados prestados. Vemos bem isto aqui.
Estendeu-me a fotografia. De facto, discerniam-se as datas dos dois anéis: Abril de 1984 e julho de 1987. Por conseguinte, três anos após o nascimento, esta cegonha havia sido tratada por Bõhm.
- Tomei notas - acrescentou Joro. - Em setenta por cento dos casos, as cegonhas desaparecidas são espécimes que trazem dois anéis. Das tais estropiadas.
- Qual é a tua opinião? - inquiri. Joro encolheu os ombros:
- Talvez haja uma doença em África, em Israel ou na Turquia. Talvez estas cegonhas não tenham resistido como as outras. Talvez os anéis as impeçam de caçar com toda a liberdade na selva. Não sei...
- Disseste-o a Bõmm?
Joro já não ouvia. Empunhara de novo o binóculo e murmurava por entre os lábios: - Olha! Lá vêm. Ali...
Ao cabo de alguns segundos, vi irromper no céu ainda claro um bando de aves que avançava lesto e ondulante. Joro praguejou em eslovaco. Enganara-se: não eram cegonhas. Apenas milhafres, que deslizaram lá no alto mesmo por cima de nós. Todavia, Joro continuou a segui-los, por simples prazer. Observei as aves rapaces, no meio do silêncio perturbante do entardecer de Verão. Senti-me de súbito impressionado com a sua requintada ligeireza, uma virtude ignorada pelo ser humano. Ao olhar para aquelas aves, compreendi que não havia nada de tão mágico quanto o mundo das aves, quanto essa graça natural que se afastava em rápido voo.
Joro sentou-se no chão ao meu lado e depois largou o binóculo. Começou a enrolar um cigarro. Mirei as suas mãos e compreendi por que razão não me estendera a direita para me cumprimentar. Estavam tolhidas de reumatismo. Os seus dedos torciam-se em ângulo recto desde as primeiras falanges. Como Jules Berry, que os usava com classe nos filmes de antes da guerra. Como John Carradine, actor de filmes de terror, que já nem sequer podia mexer esse par de castanholas petrificadas. No entanto, Joro enrolou o tabaco na mortalha em poucos segundos. Antes de acender, perguntou:
- Que idade tens?
- Trinta e dois anos.
- De que sítio de França és?
- De Paris.
- Ah, Paris, Paris...
Frase banal que, na boca do homem idoso, adquiria uma ressonância curiosa e profunda. Acendeu o cigarro fitando o horizonte.
- Bõhm pagou-te para seguires as cegonhas?
- Exactamente.
- Trabalho catita! Achas que vais descobrir o que lhes aconteceu?
- Pelo menos, espero...
- Também eu. Por causa de Bõhm. Caso contrário, ainda lhe dá um ataque.
Aguardei alguns instantes, depois confiei-lhe:
- Max Bõhm morreu, Joro.
- Morreu? Isso não me espanta, rapaz.
Expliquei-lhe as circunstâncias do falecimento de Bõhm. Joro não parecia particularmente contristado. Excepto, já se vê, no tocante ao seu salário. Senti que ele não gostava do suíço, nem dos ornitólogos em geral. Desprezava esses homens que consideram as cegonhas como propriedade sua, como se fossem quase aves domésticas. Nada que se compare com os milhares de aves que sulcam o céu do Leste na maior das liberdades.
À laia de epitáfio, Joro contou-me como Max Bõhm viera a Bratislava em 1982 para lhe propor essa missão de confiança.
O suíço oferecera-lhe vários milhares de coroas checas só para observar a passagem das cegonhas todos os anos. Joro tomara-o por louco, mas aceitara sem hesitar.
É estranho - disse ele puxando uma fumaça do cigarro que me interrogues a propósito destas aves.
Porquê? Porque não és o primeiro. No mês de Abril vieram cá dois homens que me fizeram as mesmas perguntas.
- Quem eram?
- Não sei. Não se pareciam contigo, rapaz. Eram búlgaros, julgo. Dois brutos, um alto e um baixote, que me deixaram logo de pé atrás. Os búlgaros são uns patifes, toda a gente o sabe.
- Por que razão se interessavam pelas cegonhas? Eram ornitólogos?
- Disseram-me que pertenciam a uma organização internacional, Mundo único. E que andavam a efectuar um inquérito ecológico. Não acreditei numa só palavra. Aqueles dois tipos tinham mais o aspecto de espiões.
Mundo único. O nome evocava-me alguma recordação. Esta associação internacional levava a cabo acções humanitárias nos quatro cantos do planeta, designadamente nos países em guerra.
- O que lhes disseste?
- Nada - sorriu ele simplesmente. - Foram-se embora. Mais nada.
- Eles falaram-te de Max Bõhm?
- Não. Tudo me fez crer que não conheciam o meio da ornitologia. Uns espiões, garanto-te.
Às vinte e uma e trinta anoiteceu. Não víramos uma única cegonha, mas eu aprendera uma data de coisas. O serão terminou em Sarovar, a aldeia de Joro, acompanhado de Budweiser checa e histórias tonitruantes em língua eslovaca. Os homens usavam barretinas de feltro e as mulheres envolviam-se em compridos aventais. Toda a gente falava em alta gritaria, e joro mais do que ninguém, esquecido da sua habitual fleuma. A noite estava aprazível e, mau-grado os odores de banha grelhada, aproveitei estas horas passadas junto de homens alegres que me acolhiam com calor e simplicidade. Mais tarde, joro acompanhou-me ao Hilton de Bratislava onde eu dispunha de um quarto reservado por Bõhm. Propus a joro pagar-lhe os dias seguintes, a fim de podermos procurar as cegonhas. O eslovaco aceitou com um sorriso. Só faltava esperar que as aves comparecessem ao encontro nos dias mais próximos.
joro vinha buscar-me todas as manhãs às cinco horas e íamos então tomar chá na pequena praça de Sarovar, fluorescente no azul da noite. Partíamos logo a seguir.
Primeiro, em direcção às colinas que sobranceavam Bratislava e os seus fumos ácidos. Depois, ao longo dos prados, por entre tempestades de adubos e poeira. As cegonhas eram raras. Ás vezes surgia um grande bando, por volta das onze horas, mas tão alto no céu que mal o víamos. Quinhentas aves pretas e brancas que rodopiavam no firmamento guiadas pelo seu instinto infalível. Este movimento em espiral era assombroso eu estava à espera de um voo rectilíneo, asas oblíquas e bico alçado. Mas eu lembrava-me, porém, das palavras de Bõhm: A cegonha branca não voa activamente durante a migração: paira, servindo-se das correntes de ar quente que a transportam. Uma espécie de canais invisíveis, nascidos de uma química particular da atmosfera ... Assim, as aves iam rumo ao Sul, deslizando sobre a calidez do ar.
À noite consultava os dados do satélite. Recebia a posição de cada cegonha, o grau exacto de latitude e longitude, ainda pormenorizado pelos minutos. Recorrendo a um mapa de estradas, não tinha a mínima dificuldade em seguir o percurso das aves. No meu computador, as localizações adaptavam-se a um mapa numerado da Europa e de África. Sentia assim o prazer de ver as cegonhas deslocarem-se no meu ecrã.
Distinguiam-se dois tipos de cegonhas. As cegonhas da Europa Ocidental passavam por Espanha e pelo estreito de Gibraltar a caminho do Norte de África. O seu voo enriquecia-se de milhares de aves até ao Mali, ao Senegal, à República Centro-Africana on ao Congo. As cegonhas do Leste, dez vezes mais numerosas, abalavam da Polónia, da Rússia, da Alemanha. Transpunham o Bósforo, chegavam ao Próximo Oriente e atingiam o Egipto pelo canal do Suez. Em seguida, pelo Sudão e Quénia e, ainda lá mais em baixo, pela África do Sul. Uma tal viagem podia prolongar-se por vinte mil quilómetros.
Dos vinte espécimes equipados com sinalizadores, doze haviam-se encaminhado para Leste, os outros para Oeste. As cegonhas orientais seguiam a sua rota: partindo de Berlim, tinham atravessado a Alemanha de Leste, cruzaram Dresden e depois sobrevoaram a Polónia para alcançarem a Checoslováquia e surgirem em Bratislava, onde eu as aguardava. O acompanhamento por satélite funcionava às mil maravilhas. UIrich Wagner entusiasmava-se: ”É fantástico”, disse-me ele ao telefone na terceira noite. ”Com os anéis, seriam necessárias dezenas de anos para traçar uma rota aproximativa. Graças aos sinalizadores, num só mês conheceremos o itinerário exacto das cegonhas!”.
Durante estes dias, a Suíça e os seus mistérios pareciam-me nunca ter existido. Na noite de 23 de Agosto, contudo, recebi no hotel um fax de Hervé Dumaz - avisara-o da minha partida, prevenindo-o no entanto de que por enquanto só me preocupava com as cegonhas e não com o passado de Max Bõhm. O inspector federal, ao invés, estava obcecado com o velho suíço.
O seu primeiro fax era um verdadeiro romance, redigido num estilo nervoso e brusco que contrastava com a sua moleza sonhadora. Utilizava igualmente um tom amistoso que contrastava com o nosso encontro:
De: Hervé Dumaz
Pam: Louis Antioche
Hotel Hilton, Bratislava
Montreu), 23 de Agosto de 19911, 20 horas
Caro Louis,
Como tem decorrido a sua viagem? Pelo meu lado, avanço em grandes passadas. Quatro dias de investigações permitiram-me estabelecer o seguinte:
Max Bõhm nasceu em 1934, em Montreux. Filho único de um casal de antiquários, estudou em Lausana e obteve o diploma de engenheiro aos vinte e seis anos. Três anos mais tarde, em 1963, partia para o Mali por conta da sociedade de engenharia SOCEP Participou no estudo de um projecto de construção de diques, no delta do Niger. As conturbações políticas obrigaram-no a regressar à Suíça em 1964. Bõmm embarca então para o Egipto, sempre às ordens da SOCEP, afim de colaborar na construção na barragem de Assuão. Em 1967, a guerra dos Seis Dias compele-o, uma vez mais, a regressar ao país. Após um ano Passado na Suíça, torna a partir em 1969 para a África do Sul, onde permanece dois anos. Desta feita, trabalhando para a companhia De Beers, o império mundial dos diamantes. SuperviISiona as obras de infraestruturas mineiras. Ein seguida instala-se na República Centro-Africana, em Agosto de 1972, altura em que o país está nas mãos de jean-Bedel Bohassa.
Bõhm torna-se conselheiro técnico do presidente. Dedica-se em simultâneo a várias actividades: construções, plantações de café, minas de diamantes. Em 1977, o inquérito esbarra com uma zona de sombra que dura cerca de um ano. Só reencontramos o rastro de Max Bõhm no início de 1979, na Suíça, em Montreux. Está desgastado, moído por todos estes anos de África. Aos quarenta e cinco anos, Bõhm ocupa-se exclusivamente das suas cegonhas. Todos os homens com quem falei, antigos colegas que o conheceram no terreno, traçam dele um retrato unânime: Bõhm era um homem intransigente, rigoroso e cruel. Frisaram-me frequentemente a sua paixão pelas aves, que redundava em obsessão.
Sobre o aspecto familiar, fiz algumas descobertas interessantes. Max Bõhm conhece a esposa, Irène, aos vinte e oito anos de idade, em 1962. Casa-se com ela sem tardar Passados poucos meses, nasce desta união um rapazinho, Philippe. O engenheiro vota uma profunda paixão à família, que o acompanha por toda a parte, adaptando-se às condições climatéricas e às diferentes culturas. No entanto, Irène adopta o seu próprio ritmo no começo dos anos 70. Volta muitas vezes à Suíça, espaçando gradualmente as viagens a África, escrevendo com regularidade ao marido e aofilho. Em 1976, regressa definitivamente a Montreux. No ano seguinte, morre de um cancro generalizado - Max desaparece mais ou menos nessa época. A partir daí, perco também o rastro do filho, Philippe, que tem quinze anos. Desde então, nenhuma notícia dele. Philippe Bõhm, não se manifestou por ocasião da morte do pai. Terá igualmente falecido? Viverá no estrangeiro? Mistério.
Sobre afortuna de Max Bõhm, não disponho de mais elementos. A análise das suas contas pessoais e dos haveres da sua associação demonstra que o engenheiro possuía perto de oitocentos milfrancos suíços. Não se encontrou qualquer vestígio de um depósito numerado (que, apesar de tudo, existe, tenho a certeza). Quando e como acumulou Bõhm tanto dinheiro? Durante a sua existência de viajante entregou-se sem dúvida a um ou vários tráficos. As ocasiões não devem ter faltado. Inclino-me, é claro, para uma intriga com Bokassa ouro, diamantes, marfim... Aguardo neste momento a síntese dos dois processos do ditador. Talvez o nome de Max Bõhm apareça nalgum lado.
Por ora, o grande enigma reside no transplante cardíaco. A Dra. Catherine Warel prometera-me efectuar um inquérito nas clínicas e hospitais suíços. Não encontrou nada. Tão-pouco em França, nem em sítio algum da Europa. Então onde e quando? Em África? É menos absurdo do que Parece: o primeiro transplante de coração em seres humanos foi realizado em 1967, por Christian Barnard, na Cidade do Cabo, na África do Sul. Em 1968, Barnard procedeu com êxito a um segundo transplante cardíaco. Bõhm chegou à África do Sul em 1969. Terá sido operado por Barnard? Veriffiquei: o suíço não aparece nos arquivos do Hospital Broote Schuur.
Outra faceta estranha: Max Bõhm parecia gozar de excelente saúde. Vasculhei de novo o seu chalé, à procura de uma receita, de uma análise, de umaficha médica. Nada. Estudei as suas contas bancárias, as suas facturas de telefone: nem um cheque, nem um contacto que se relacione de perto ou de longe com um cardiologista ou uma clínica. No entanto, um paciente de transplante cardíaco não é um doente vulgar. Deve consultar regularmente o seu médico, efectuar electrocardiogramas, biópsias, múltiplas análises. Faria os exames no estrangeiro? Bõhm viajava muito pela Europa, mas as cegonhas ofereciam-lhe excelentes razões para visitar a Bélgica, a França, a Alemanha, etc. Uma vez mais, depara-se-nos um beco sem saída.
Eis o Ponto em que me acho. Como vê, Max Bõhm é um homem de todos os mistérios. Acredite no que lhe digo, Louis: o caso Bõhm existe. Aqui, na esquadra de Montreux, o Processo foi’ arquivado. Osjornais estão de luto e alongam-se em prosas sobre ”o homem das cegonhas”. Que ironia! O enterro decorreu no cemitério de Montreux. Compareceram todas as entidades, tendo as ”figuras” da cidade rivalizado em alocuções ocas.
última notícia: Bõhm legou, por testamento, toda a sua fortuna a uma organização humanitária muito célebre na Suíça: Mundo único. Este facto talvez constitua uma nova pista. Vou prosseguir o inquérito.
Dê-me notícias suas.
Hervé Dumaz
O inspector continuava a irritar-me. Recolhera informações sólidas em poucos dias. Enviei-lhe logo por fax uma resposta. Não falei dos documentos de Bõhm. Fiquei com alguns remorsos, mas um estranho pudor era mais forte. Uma certa intuição avisava-me de que convinha desmontar as aparências, desconfiar destes documentos cuja crueza saltava aos olhos.
Eram duas horas da madrugada. Apaguei a luz e quedei-me assim, a ver as sombras desenharem-se no claro-escuro. Qual seria a verdade secreta de Max Bõhm? E que papel desempenhavam neste caso as cegonhas, que pareciam interessar tanta gente? Não abrigariam elas segredos cuja violência me ultrapassava? Mais do que nunca, estava decidido a segui-las. Até ao fim do seu enigma.
No dia seguinte, levantei-me atrasado, com uma forte enxaqueca. joro esperava por mim no átrio. Abalámos logo. Durante o dia, joro interrogou-me sobre a minha vida parisiense, a minha história, os meus estudos. Estávamos sentados na encosta de uma colina. As terras faiscavam de calor e alguns carneiros roíam arbustos secos.
- E as mulheres, Louis? Tens alguma em Paris?
-já tive. Mais de uma. O meu feitio, porém, é um tanto solitário. E as raparigas não parecem lamentar-se.
- Ah não, julguei que devias agradar às parisienses, com todas essas roupas chiques...
- É uma questão de contacto - gracejei, mostrando-lhe as minhas mãos -, estas mãos monstruosas, com unhas de chifre, que pertencem ao nada do meu passado.
Joro acercou-se e examinou atentamente as minhas cicatrizes. Emitiu um leve assobio por entre dentes, a meio caminho entre a admiração e a compaixão.
- Como arranjaste isso, rapaz? - murmurou.
- Foi no campo, quando era muito novinho - menti. Um candeeiro de petróleo explodiu-me nas mãos.
Joro sentou-se a meu lado, repetindo: ”Santo Deus!”. Habituara-me a variar as mentiras sobre o meu acidente. Esta atitude transformara-se num tique, num modo de responder à curiosidade dos outros e de dissimular o meu próprio desconforto. Mas Joro acrescentou numa voz surda:
- Eu também tenho as minhas cicatrizes.
Virou então as suas mãos paralisadas. Uns inchaços atrozes rasgavam-lhe as palmas. Abriu a custo os primeiros botões da camisa. As mesmas lacerações atravessavam-lhe o torso - como filamentos de dor, regularmente assinalados por pontos mais largos, claros e róseos. Interroguei-o com o olhar. Compreendi que ele decidira revelar-me a sua história - o segredo da sua carne. Contou-a numa voz tristonha, num francês perfeito, que ele parecia ter aprofundado com a única finalidade de narrar o seu destino.
- Quando os exércitos do Pacto de Varsóvia invadiram o país em 1968, tinha eu trinta e dois anos. Como tu agora. Essa invasão significava para mim o fim de uma esperança, a do socialismo de rosto humano. Na época, vivia em Praga, com a minha família. Ainda me recordo das vibrações do solo quando os tanques chegaram. Um tinido pavoroso, como raízes de ferro que avançassem sob a terra. Recordo-me das primeiras detonações, das coronhadas, das detenções. Não acreditava no que via. A nossa cidade, a nossa vida, tudo isto já não fazia qualquer sentido de repente. As pessoas soterravam-se nas suas casas. A morte e o medo tinham entrado nas nossas ruas, nas nossas cabeças. Começámos por resistir, sobretudo os jovens.
Mas os tanques fizeram em papas os nossos corpos, a nossa revolta. Então, uma noite, eu e a minha família resolvemos fugir para o Ocidente, através de Bratislava. Parecia-nos possível, já se vê, assim tão perto da Áustria! As minhas duas irmãs foram abatidas depois de terem transposto o arame farpado da fronteira. O meu pai levou com uma rajada na cabeça. Metade do seu rosto voou dentro do boné. Quanto à minha mãe, ficou presa nas farpas do arame. Tentei soltá-la, mas não havia maneira. Ela berrava e esperneava como uma doida. E quanto mais se agitava, mais enterrava as farpas no casaco, na carne, com as balas a silvarem por cima das nossas cabeças. Eu estava em sangue, puxando por aqueles malditos fios com ambas as mãos. Os gritos dela hão-de permanecer dentro de mim até à morte.
Joro acendeu um cigarro. Há muito tempo que não revolvia estas atrocidades.
- Os russos prenderam-nos. Nunca mais vi a minha mãe. Por mim, passei quatro anos num campo de trabalho, em Piodv. Quatro anos a amargar no meio do frio e da lama, com uma picareta agarrada às mãos. Pensava sem descanso na minha mãe, no arame farpado. Caminhava ao longo do arame que rodeava o campo, tocava com os dedos naquele metal que magoara a minha mãe. A culpa foi minha, pensava eu. Foi por minha culpa. E cerrava o punho sobre aqueles picos, até o sangue esguichar entre os meus dedos fechados. Certo dia roubei uns pedaços de fio. Fabriquei uma braçadeira que usei por baixo do casaco. Cada golpe de picareta, cada gesto, flagelava-me os músculos. Extraía daqui uma espécie de expiação. Ao cabo de vários meses, cingi-me de fios em torno do corpo. já não podia trabalhar. Cada gesto mortificava-me e as feridas infectavam. Finalmente, sucumbi. já não era mais que uma chaga, uma gangrena, a escorrer sangue e pus. Acordei vários dias depois, na enfermaria. Os meus membros haviam-se reduzido a dores lancinantes, o meu corpo era um longo dilaceramento. Foi então que reparei nelas. Num estado de semiconsciência, avistei umas aves brancas através das vidraças sujas. Julguei que eram anjos. Pensei: estou no paraíso, estes anjos vieram acolher-me. Mas não, continuava no mesmo inferno. Era simplesmente a Primavera, e as cegonhas tinham voltado. Observei-as ao longo da minha convalescença. Havia vários casais instalados no alto das vigias. Como hei-de dizer-te? Aquelas aves deslumbrantes, acima de tanta miséria, de tanta crueldade... Tal visão encheu-me de coragem. Surpreendi a tarefa das aves a chocar alternadamente os ovos, os biquinhos pretos das crias, as suas primeiras tentativas de voo e mais tarde, em Agosto, a grande abalada... Durante quatro anos, a cada Primavera, as cegonhas deram-me força para viver. Os meus pesadelos ainda ali estavam, sob a minha pele, mas as aves, tão claras no azul do céu, constituíam a corda à qual me aferrava. Uma corda bem espinhosa, podes crer. Mas suportei o meu infortúnio. A esfalfar-me como um cão, sob a bota dos russos, a ouvir urrar as pessoas que eram torturadas, a comer lama e a tiritar no meio do gelo. Foi então que aprendi francês com um militante comunista que ali se encontrava, ninguém sabia como. Quando saí, filiei-me no Partido e comprei um binóculo.
Anoitecera. As cegonhas não tinham surgido, excepto no destino de Joro. Metemo-nos no carro sem uma palavra. Ao longo dos campos, o arame farpado oscilava ao sabor de ramos retorcidos e exibia uns arabescos fantásticos.
No dia 25 de Agosto, as primeiras cegonhas sinalizadas chegaram a Bratislava. Ao findar a tarde, consultei os dados do Argos e concluí que duas aves tinham vindo parar quinze quilómetros a oeste de Sarovar. Joro mostrava-se céptico, mas aceitou estudar o mapa. Conhecia o lugar: um vale onde, no seu entender, nunca arribara qualquer cegonha. Por volta das dezanove horas atingíamos a laguna. Rodávamos escrutando o céu e as redondezas. Não se vislumbrava a sombra de uma única ave. Joro não pôde reprimir um sorriso. Espreitávamos as aves há já cinco dias, mas só avistáramos alguns bandos, tão longínquos e tão vagos que poderiam muito bem ser milhafres ou outras aves de rapina. Descobrir naquela tarde alguma cegonha, graças ao meu computador, representaria uma autêntica afronta para joro Grybinski.
No entanto, de repente, ele murmurou: - Estão ali. - Ergui os olhos. No céu de púrpura voltejava um bando. Uma centena de aves pousava devagarinho nas águas esparsas dos pauis. Joro emprestou-me o binóculo. Observei as aves que planavam de bico estendido, atentas ao firmamento. Era maravilhoso. Tinha finalmente a noção da viagem alada que iria conduzi-las até África. No meio desta horda ligeira e selvagem havia portanto duas cegonhas equipadas. Um frémito de alegria atravessou-me o sangue. O sistema de transmissores funcionava. Sem falhar sequer uma pena.
No dia 27 de Agosto recebi um novo fax de Hervé Dumaz. Não avançava. Tivera que voltar ao seu quotidiano de inspector, mas não cessava de entabular contactos com a França, em busca de velhos militarões que tivessem conhecido Max Bõhm na República Centro-Africana. E obstinava-se nesta direcção, persuadido de que Bõhm se entregara lá longe a obscuros tráficos. Em conclusão, mencionava um engenheiro agrônomo de Poitiers que, segundo tudo levava a crer, trabalhara na República Centro-Africana de 1973 a 1977. O inspector contava ir a França e falar com o homem assim que ele regressasse de férias.
O dia 28 de Agosto marcou para mim o momento da partida. dez cegonhas tinham ultrapassado Bratislava, e as mais rápidas - que iam a uma cadência de cento e cinquenta quilómetros por dia já alcançavam a Bulgária. O meu problema era agora o de as seguir de automóvel através do seu périplo exacto: atravessavam a ex-Jugoslávia, onde acabavam de deflagrar os primeiros confrontos. Estudei o mapa e decidi contornar o barril de pólvora ladeando esta fronteira pela Roménia - afinal de contas, dispunha de um visto romeno. Em seguida, penetraria na Bulgária por uma pequena cidade chamada Calalat e encaminhar-me-ia logo para Sófia. Devia percorrer cerca de mil quilómetros. Pensava cobrir esta distância num dia e meio, atendendo às fronteiras e ao estado das estradas.
Sendo assim, nessa manhã reservei um quarto no Sheraton de Sófia para o dia seguinte à noite, depois telefonei a um certo Marcel Minaüs, outro nome da lista de Bõhm. Minaüs não era ornitólogo mas linguista: devia ajudar-me a entrar em contacto com o especialista búlgaro em cegonhas - Rajko Nicolitch. Ao cabo de várias tentativas infrutíferas, consegui a ligação e falei com o francês instalado em Sófia. O seu acolhimento foi caloroso. Marquei encontro com ele no átrio do Sheraton, às vinte e duas horas do dia seguinte. Desliguei, enviei um fax a Dumaz com o meu novo endereço e fechei o saco de viagem. Mal paguei a conta do hotel, dirigi-me imediatamente para Sarovar, a fim de saudar Joro Grybinski pela última vez. Não houve efusões. Trocámos as nossas moradas. Prometi mandar-lhe um convite, sem o qual jamais poderia ir a França.
Algumas horas mais tarde, abeirava-me de Budapeste, na Hungria. Ao meio-dia, parei numa estação de auto-estrada e almocei uma salada infecta, à sombra de uma bomba de gasolina. Algumas raparigas, louras e leves como películas de trigo maduro, olhavam-me com um orgulho enrubescido. Sobrancelhas graves, maxilas largas, cabeleira clara: estas adolescentes assemelhavam-se ao arquétipo que eu forjara para mim mesmo das belezas do Leste. E a coincidência desconcertava-me. Fora sempre um acerbo inimigo das ideias pré-concebidas, dos lugares-comuns. Ignorava que o mundo é frequentemente mais evidente do que se pensa, e que as suas verdades, por muito banais que sejam, não deixam de ser transparentes e vivas. Curiosamente, senti um estremecimento, um sobressalto de júbilo profundo. Às treze horas, retomei o caminho.
Cheguei a Sófia no dia seguinte à noite, debaixo de um aguaceiro. Prédios de tijolos, sujos e vetustos, enquadravam avenidas mal pavimentadas. Viam-se Ladas a deslizar e a trepidar, como brinquedos fora de moda, evitando por pouco os eléctricos ziguezagueantes. Os eléctricos constituíam os verdadeiros heróis de Sófia. Surgiam de lado nenhum, num alarido ensurdecedor, e expeliam clarões azuis sob as pancadas de água. Por detrás das janelas, a sua iluminação amarelada tremulava e apagava-se sobre os rostos fechados dos passageiros. Estas estranhas carruagens pareciam o palco de uma experiência inédita - um electrochoque generalizado, plúmbeo e lúgubre, em cobaias exangues.
Dirigi-me ao acaso, sem saber aonde ia. As placas de sinalização estavam escritas em cirílico. Com a mão direita, tirei do saco o guia comprado em Paris. Enquanto O folheava, dei comigo, por sorte, na praça Lenine. Ergui o olhar. A arquitectura fazia lembrar um hino desfraldado no meio da tempestade. Edifícios austeros, poderosos, rasgados por janelas estreitas, elevam-se de toda a parte. Torres quadradas, bem lançadas até aos seus cimos esguios, arvoravam uma infinidade de seteiras. As suas cores discretas refulgiam de um modo perturbador na noite que se ia adensando. À direita, uma igreja anegrada ostentava o seu vulto redondo. À esquerda, o Sheraton Sófia Hotel Balkan pontificava a toda a largura, como uma guarda avançada do capitalismo conquistador. Era ali que se hospedavam todos os homens de negócios americanos, europeus ou japoneses, abrigando-se da tristeza socialista como se de uma lepra.
No centro do átrio, sob uns lustres enormes, esperava-me Marcel Minaüs. Reconheci-o logo. Dissera-me: ”Uso barba e tenho o crânio pontiagudo”. Mas Marcel era muito mais do que isto. Era um ícone vivo. Bastante alto, maciço, postava-se como um urso arqueado, os pés para dentro e os braços pendentes.
Uma autêntica montanha, encimada por uma cabeça de patriarca ortodoxo, com uma barba comprida e um nariz majestoso. Os olhos, só por si, eram um poema: verdes, buliçosos, orlados de sombra, como que queimados por alguma velha crença balcânica. E além do mais havia o crânio, semelhante a uma mitra: completamente calvo e erguido para o céu, como uma prece.
- Fez boa viagem?
- Mais ou menos - respondi, evitando apertar-lhe a mão.
- Choveu desde a fronteira. Esforcei-me por manter uma certa média, mas com os despenhadeiros e as estradas esburacadas, tive que diminuir a velocidade e...
- Sabe, eu só viajo de autocarro ...
Entreguei as bagagens na recepção e encaminhei-me com o meu companheiro para o restaurante principal do hotel. Marcel já tinha jantado, mas voltou a sentar-se à mesa de boa vontade.
Francês no passaporte, Marcel Minaüs, quarenta anos, era uma espécie de intelectual nómada, um linguista poliglota, que manejava sem custo o polaco, o búlgaro, o húngaro, o checo, o sérvio, o croata, o macedónio, o albanês, o grego... e, está claro, o romani, a língua dos ciganos. O romani era a sua especialidade. Escrevera vários livros sobre o tema e redigira um manual - do qual se ufanava muito - para uso das crianças. Membro eminente de numerosas associações, desde a Finlândia até à Turquia, vogava de colóquio em colóquio e vivia assim, em jeito de papa-jantares, em cidades como Varsóvia ou Bucareste.
A refeição terminou por volta das onze e meia. Não faláramos praticamente das cegonhas. Minaus só me pedira alguns esclarecimentos sobre a experiência por satélite, Nada sabia sobre o assunto, mas prometeu que me apresentaria Rajko Nicolitch no dia seguinte - ”o melhor ornitólogo dos Balcãs”, clamou ele.
Bateu a meia-noite. Marquei encontro com Marcel para a manhã seguinte às sete horas, no átrio do hotel. Iríamos logo alugar um carro e tomar o caminho de Sliven, onde residia Rajko Nicolitch. Minaüs ficou encantado com a ideia deste passeio. Subi até ao meu quarto. Enfiada por baixo da porta, aguardava-me uma mensagem. Era um fax de Dumaz.
De: Hervé Dumaz Para: Louis Antioche
Sheraton Sofia Hotel Balkan
Montreux, 29 de Agosto de 1991, 22 horas
Caro Louis
Dia cansativo passado em França, mas a viagem valeu a pena. Encontrei finalmente o homem que procurava. Michel Guillard, engenheiro agrónomo, cinquenta e seis anos. Quatro anos seguidos na República Centro-Africana. Quatro anos de floresta húmida, de plantações de café e de... Max Bõhm! Apanhei Guillard em Poitiers, em casa dele, quando voltava de férias com afamília. Graças ao que me contou, pude reconstituir o período africano de Bõhm em pormenor Eis os factos:
- Agosto de 1972. Max Bõhm desembarca em Bangui, capital da República Centro-Africana. Acompanhado da mulher e do filho, parece indiferente ao contexto político do país, sob a férula de um Bokassa que se proclamou ”Presidente vitalício”. Bõhm já passou por muita coisa. Vem das explorações diamantíferas da África do Sul, onde os homens trabalham nus e são vistos em radioscopia à saída das minas, para verificar se engoliram algum diamante. Max Bõhm instala-se numa moradia colonial e começa a trabalhar, chefiando inicialmente as obras de um grande edifício, um projecto de Bokassa intitulado ”Pacífico 2”. Impressionado, Bokassa propõe-lhe outras missões. Bõhm aceita.
- 1973: durante alguns meses, forma um destacamento de segurança destinado a vigiar os campos de café da Lobaye (província do extremo meridional, toda ela em floresta densa), e, ao que parece, o flagelo dos cultivos era o roubo dos grãos de café Pelos aldeões antes da colheita. É nesta época que Guillard conhece Bõhm, pois trabalha num programa agrário posto em Prática na mesma região. Guarda a recordação de um homem brutal, de modos militares, mas que se mostra honesto e sincero. Mais tarde, Bõhm desempenha o papel de porta-voz da RCA junto do governo sul-africano (que ele conhece bem) afim de obter um empréstimo para a construção de duzentas vivendas. Consegue o empréstimo. Bokassa propõe outro trabalho ao suíço, ligado aos filões diamantíferos. Os diamantes são a obsessão do ditador. Graças às pedras preciosas, constitui a maior parte da sua fortuna (deve conhecer estes epiSódios: o famoso ”boião de compota”, onde Bokassa punha as Jóias que gostava de exibir diante dos seus convidados, o fantástico diamante ”Catherine Bokassa», em forma de manga, incrustado na coroa imperial, o escândalo das ”prendas” ao presidente francês Valéry Giscard Destaing .. Em suma, Bokassa proPõe a Bõhm que vá para os sítios de exploração e supervisione as Prospecções: a norte, na savana semidesértica; e a sul, no coração dafloresta. Conta com o engenheiro para racionalizar a actividade e obviar à prospecção clandestina.
Bõhm sulca todos os filões, na poeira do norte e nas selvas do sul. Aterroriza os mineiros com a sua crueldade e torna-se célebre mercê de um castigo inventado por ele. Na Áffrica do Sul, quebram os tornozelos aos ladrões para os castigar, forçando-os não obstante a continuar a labuta. Bõhm congemina outro método: por meio de um corta-cabos, secciona os tendões de aquiles dos bandidos. O método é rápido e eficaz, mas as feridas infectam no ambiente dafloresta. Guillard viu vários homens morrer assim.
Na época, Bõhm supervisiona as actividades de diferentes sociedades, entre as quais a Centramines, a SCED, a Diadème e a Sicamine, outras tantas empresas oficiais que dissimulam os tráficos, não menos oficiais, de Bokassa. Max Bõhm, emissário do ditador, não se envolve nas fraudes. Segundo Guillard, o engenheiro distingue-se singularmente dos burlões e dos aduladores que rodeiam o tirano. Nunca fez parte das sociedades de Bokassa. É por isso que, conforme pude verifficar, o seu nome não aparece por ocasião dos dois processos do ditador.
- 1974: Bõhm faz frente a Bokassa, que multiplica os negócios ilícitos, as extorsões, os roubos directos nos cofres do Estado. Uma destas trapaças atinge directamente Max Bõhm. Depois de obtido o empréstimo sul-africano, Bokassa constrói menos de metade das vivendas previstas, outorga a si mesmo o contrato de mobilação delas, depois exige ser reembolsado pelas duzentas vivendas. Bõhm, implicado neste empréstimo, declara alto e bom som a sua cólera. É imediatamente metido na prisão e depois libertado. Bokassa precisa dele: desde que superviSiona a exploração das minas diamantíferas, os rendimentos são nitidamente superiores.
Mais tarde, o suíço insurge-se outra vez contra Bokassa a propósito do colossal tráfico de marfim do tirano e do massacre de elefantes assim provocado. Contra todas as expectativas, obtém uma decisãofavorável. O ditador prossegue o seu comércio, mas aceita inaugurar um Parque natural Protegido em Bayanga, perto de Nola, no extremo sudoeste da RCA. Este parque ainda existe. Podem ver-se aqui os últimos elefantes selvagens da República Centro-Africana.
No dizer de Guillard, a personalidade de Bõhm é paradoxal. Mostra-se muito cruel para com os africanos (mata, por suas próprias mãos, vários prospectores clandestinos) mas, ao mesmo tempo, só vive ao pé dos negros. Detesta a sociedade europeia de Bang-ui, as recepções diplomáticas, os serões nos clubes. Bõhm é um misantropo que apenas se ameniza em contacto com a floresta, os animais e, já se vê, as cegonhas.
Em Outubro de 1974, na savana a leste, Guillard surpreende Max Bõhm acampado no meio das ervas, em companhia do seu guia. O suíço espera as cegonhas de binóculo em punho. Conta então ao jovem agrónomo como salvou as cegonhas na Suíça e como vai todos os anos ao seu País para admirar o regresso migratório delas. ”O que vê nelas afinal?”, pergunta Guillard. Bõhm responde simplesmente: ”Apaziguam-me”.
Sobre a família de Bõhm, Guillard não sabe grande coisa. Em 1974, Irène Bõhm já não vive em África. Guillard recorda-se de uma mulherzinha apagada, com a tez da cor do enxofre, sempre sozinha na sua casa colonial. Em compensação, o agrónomo conheceu melhor Philippe, o filho, que por vezes acompanha o pai nas expedições. A semelhança entre o Pai e o filho é, segundo parece, assombrosa: mesmo encorpamento, mesmo rosto arredondado, mesmo corte de cabelo à escovinha. No entanto, Philippe herdou o carácter da mãe: tímido, indolente, sonhador, vive sob a autoridade do pai e submete-se em silêncio a uma educação brutal. Bõhm querfazer dele um ”homem”. Leva-o para regiões hostis, ensina-o a manejar armas, confia-lhe missões, afim de o aguerrir
- 1977: Bõhm parte no mês de Agosto em prospecção para lá de MBaiki, em plena floresta profunda, a caminho da grande serração da SCAD. É ali que principia o território pigmeu. O engenheiro instala o seu acampamento na floresta. Acompanham-no um geólogo belga chamado Niels van Dõtten, dois guias (um ”negro alto” e um pigmeu) e carregadores. Certa manhã, Bõhm recebe um telegrama trazido por um mensageiro pigmeu. É o anúncio da morte de Irene. Ora, a verdade é que Bõhm não sabia que a esposa sofria de um cancro. Cai de repente no meio da lama.
Uma indisposição cardíaca acaba por acometer Max Bõhm. Van Dõtten tenta reanimá-lo com os meios de que dispõe
- massagem do coração, boca-a-boca, medicamentos de primeiros socorros, etc. Ordena logo aos homens que levem o doente para o hospital de MBaki, a vários dias de marcha. Mas Bõhm recupera os sentidos. Balbucia que conhece uma missão mais próxima, a sul, do outro lado da fronteira do Congo (aqui, o limite territorial é apenas um traço invisível na floresta). Quer que o transportem para lá, afim de receber cuidados mais eficientes. Van Dõtten hesita. Bõhm impõe a sua decisão e exige que o geólogo regresse a Bangui em busca de socorros: ”Vai correr tudo bem”, assegura. Aturdido, vanDõtten põe-se a caminho e alcança a capital seis dias depois. O exército francês freta sem demora um helicóptero que levanta voo, orientado pelo geólogo. Uma vez chegado, porém, não encontra sinal da missão nem de Bõhm. Tudo desapareceu. Ou nunca existiu. O ornitólogo é dado como desaparecido e o belga não se atarda em Bangui.
Passado um ano, Max Bõhm, em carne e osso, desembarca em Bangui. Explica que o helicóptero de uma sociedade florestal congolesa o conduziu a Brazzaville, e que em seguida regressou à Suíça de avião, sobrevivendo Por milagre. No seu país, o tratamento zeloso de uma clínica genebrina permitiu-lhe restabelecer-se. já não é mais que uma sombra de si mesmo e fala muito da mulher. Estamos em Outubro de 1978. Max Bõhm vai-se embora pouco depois. Nunca mais voltará à RCA. Desde então, é um checo, um antigo mercenário chamado Otto Kieer que substitui o suíço nafiscalização das minas.
Pronto, Louis, eis a história completa. Esta entrevista elucida-nos sobre alguns pontos. Também reforça as zonas de sombra. Assim, a partir da morte de Irène Bõhm, perdemos qualquer rastro do filho. O mistério do transplante cardíaco Permanece intacto, exceptuando porventura o período em que aconteceu. O enxerto efectuou-se certamente no Outono de
- Mas a convalescença de Bõhm em Genebra é uma mentira: Bõhm não aparece em nenhum registo suíço durante os últimos vinte anos.
Resta a pista dos diamantes. Estou convencido de que Bõhm amealhou a fortuna lançando mão das pedras preciosas. E lamento amargamente que a sua viagem não o leve até à RCA, afim de esclarecer todos estes mistérios. Talvez encontre alguma coisa no Egipto ou no Sudão... Por mim, inicio no dia 7 de Setembro uma semana de férias. Conto ir a Antuérpia, para visitar as Bolsas de diamantes. Tenho esperança de descobrir o rastro de Max Bõhm. Envio-lhe todas estas informações a quente. Meditemos nelas e troquemos impressões o mais depressa possível.
Esperando notícias suas, Hervé.
Enquanto lia, as minhas ideias desdobravam-se em todas as direcções. Procurava imbricar as minhas próprias peças neste puzzle: as imagens de Irène e de Philippe Bõhm, o scanner do coração de Bõhm e, sobretudo, as fotografias insustentáveis dos corpos negros mutilados.
Dumaz ignorava outra coisa: eu conhecia perfeitamente a história da República Centro-Africana - tinha razões pessoais para a conhecer. Assim, o nome de Otto Kiefer, lugar-tenente de Bokassa, não me era estranho. Este refugiado checo, de uma violência implacável, salientara-se pelos seus métodos de intimidação. Colocava uma granada na boca dos prisioneiros e fazia-a explodir quando eles se recusavam a falar. Semelhante técnica valera-lhe a alcunha grotesca de ”Tonton Granada”. Bõhm e Kiefer ofereciam, pois, os dois rostos de uma mesma crueldade: o corta-cabos e a granada.
Apaguei a luz. Apesar da fadiga, o sono não vinha. Por fim, sem acender a luz, liguei para o Centro Argos. As linhas telefónicas de Sófia, menos obstruídas àquela hora tardia, permitiram-me uma conexão perfeita. Na penumbra do meu quarto, a trajectória das cegonhas delineou-se uma vez mais a preto e branco no mapa numerado da Europa do Leste. Só havia uma notícia interessante: uma cegonha alcançara a Bulgária. Pousara numa grande planície, não longe de SliVen, a cidade de Rajko Nicolitch.
Está tudo a mudar em Sófia. É a hora do ”grande sonho americano”. À falta de um futuro europeu é
bem palpável, os búlgaros voltam-se para os Estados Unidos. Agora, em Sófia as portas abrem-se a quem falar inglês. Até se diz que os americanos já não pagam o visto de entrada. É incrível! Ainda há dois anos apodava-se a Bulgária de décima sexta república da União Soviética.
Marcel Minaüs falava alto, dividido entre a irritação e a ironia. Eram dez horas da manhã. Seguíamos ao longo das montanhas dos Balcãs, sob um sol resplandecente. Os campos alardeavam cores inesperadas: amarelos cintilantes, azuis desmaiados, verdes pálidos, frementes sob o afago da luz. Surgiam aldeias gredosas e delicadas com as suas paredes de reboco.
Eu guiava de acordo com as indicações de Marcel, que trouxera consigo Yeta, a sua «noiva>, uma curiosa cigana trajada com um fato saia-casaco a imitar Chanel, em algodão mesclado de cores vivas. Era pequena e roliça ejá deixara para trás a primeira juventude, arvorando uma enorme grenha de cabelo grisalho donde brotava uma carinha bicuda, de olhos negros. A parecença com um ouriço era flagrante. Só falava romam e ia no banco de trás, muito ajuizada.
Marcel elogiava agora os méritos de Rajko Nicolitch.
- Não podias ter mais sorte - repetia ele, passando a tratar-me por tu. - Rajko é muitojovem, mas possui qualidades excepcionais. Aliás, começa a participar em colóquios internacionais. Os búlgaros andam furiosos. Rajko recusou apresentar-se sob as cores do país.
- Então Rajko Nicolitch não é búlgaro? - admirei-me. Marcel soltou um risinho surdo:
- Não, Louis, é um rom, um cigano. E não dos mais dóceis. Pertence a uma família de recolectores. Quando chega a Primavera, os roms deixam o gueto de Sliven e partem para as florestas em volta da planície. Colhem tíilia, camomila, comizolo, pés de cereja. - Como eu esbugalhei os olhos, Marcel espantou-se: - O quê, não sabes? Os pés de cereja constituem um diurético muito afamado! Só estes roms, os ”homens”, como eles se designam, conhecem os lugares onde crescem tais plantas silvestres. Abastecem a indústria farmacêutica búlgara, a mais importante dos países de Leste. Hás-de ver: são fabulosos. Alimentam-se de ouriços-cacheiros, lontras, rãs, urtigas, azedas-bravas... Tudo o que a natureza lhes oferece ao alcance da mão. - Marcel entusiasma-se. - Há pelo menos seis meses que não vejo o Rajko!
Proporcionou-me em seguida um quarto de hora de piadas albanesas. Nos Balcãs, os albaneses são os belgas da nossa Europa Ocidental: os protagonistas preferidos de anedotas que põem em evidência a sua ingenuidade, a sua falta de meios ou de ideias. Minaüs era doido por anedotas dessas.
- E esta, conheces? Uma manhã, aparece uma notícia no Pravda: ”Por ocasião de manobras navais, um grave acidente aniquilou metade da frota albanesa. O remo esquerdo ficou destruído”. - Marcel riu por entre a barba. - Outra. Os albaneses lançam um programa espacial, em colaboração com os russos: um voo no espaço com um passageiro animal. Em breve enviam este telegrama aos soviéticos: ”Temos cão. Mandem o foguetão”.
Dei uma gargalhada. Marcel acrescentou:
- Obviamente, nos tempos que correm, isto perdeu bastante actualidade. Mas as piadas albanesas continuam a ser as minhas preferidas.
Entrou em seguida num longo ditirambo sobre a cozinha cigana (acalentava o projecto de abrir um restaurante de especialidades em Paris). A ”apoteose” desta gastronomia era o ouriço. Caçavam-no de noite, à paulada, depois inchavam-no a fim de poderem tirar-lhe mais facilmente os espinhos. Era cozinhado com zumi, uma farinha específica, depois cortado em seis pedaços iguais - uma verdadeira delícia, na opinião de Marcel.
- Então é melhor ir de olho bem atento à estrada.
- Não há perigo - retorquiu ele num tom doutoral. Um ouriço nunca se passeia de dia.
De súbito, como se quisesse contradizê-lo, o animal espinhoso surgiu da berma. Marcel fez um trejeito perplexo.
- É sem dúvida um ouriço doente. Ou uma fêmea grávida.
Rebentei de novo a rir. Onde estavam os frios países de Leste, os regimes tirânicos, a monotonia e a tristeza? Marcel parecia possuir a particular magia de transformar os Balcãs em destino ideal de viagem, em local de fantasia e prazer, investido de humor e calor humano.
Mas estávamos a chegar à região de Sliven. As estradas iam-se tornando mais estreitas, mais sinuosas. Florestas obscuras fechavam-se sobre nós. Cruzávamo-nos agora com algumas vel dines - as caravanas dos ciganos nómadas. Nestas carroças desengonçadas iam famílias inteiras que nos miravam com os seus olhos sombrios. Rostos escuros, cabelo desgrenhado, silhuetas andrajosas. Estes ciganos não se pareciam com Yeta. Chegara o tempo dos roms. Dos verdadeiros - os que viajam e nos rapinam com a ponta dos dedos, cheios de desprezo e condescendência.
Não tardou que Marcel me indicasse uma vereda à direita, um caminho de terra batida que descia da estrada até ao leito de um riacho. Avistámos uma clareira aberta na mata. Um acampamento surgiu por entre as árvores: quatro tendas de cores berrantes, alguns cavalos e mulheres sentadas na erva que faziam tranças de flores brancas.
Marcel saiu do automóvel e gritou algo às romnis, na sua voz mais cantante. As mulheres deitaram-lhe um olhar glacial. Marcel virou-se na nossa direcção: - Há um problema. Esperem por mim aqui. - Vi a sua cabeça passar através da folhagem, e depois a sua alta estatura irromper de novo ao pé das mulheres. Uma delas levantara-se e falava-lhe com animação. Envergava uma camisola cor de girassol que lhe moldava os seios flácidos. O seu rosto era moreno e tosco, como que talhado em casca. Sob o lenço sarapintado, parecia não ter idade: apenas um ar de intensa dureza, uma violência à flor da pele. A seu lado, outra romni, mais miúda, corroborava. Também ela se erguera. O seu nariz adunco estava torto, como se um soco o tivesse quebrado. Pesadas argolas de prata pendiam-lhe das orelhas e o seu casaco de malha turquesa tinha buracos nos cotovelos. A última permanecia sentada, com um bebé nos braços. Devia andar pelos quinze ou dezasseis anos e olhava na minha direcção, de olhos chamejantes sob uma espessa trunfa preta e luzidia.
Aproximei-me. A mulher-girassol berrava, apontando alternadamente para as profundezas da floresta e para ajovem mãe sentada na erva. Parei a poucos passos do grupo. A romni interrompeu-se e encarou-me. Marcel empalidecera. - Não compreendo, Louis... não compreendo. Rajko morreu. Na Primavera. Ele... foi assassinado. É melhor ir falar com o chefe, Marin’, nos bosques, - Aquiesci, sentindo o coração bater aos sacões. As mulheres avançaram à frente. Seguimo-las através das árvores.
Na floresta, o ar estava mais fresco. Os cimos das epíceas baloiçavam ao vento, os arbustos rumorejavam a nossa passagem. Os raios de sol viajavam de mansinho através das aberturas no arvoredo. Milhões de partículas davam-lhes o aspecto aveludado da pele dos pêssegos. Seguimos por uma espécie de carreiro que havia sido traçado recentemente. As romnis caminhavam sem hesitar. De repente ressoaram vozes no alto da abóbada esmeraldina. Vozes de homens que se interpelavam a grande distância. A mulher-girassol voltou-se e disse algo a Marcel, que anuiu sem parar de andar.
Encontrámos primeiro um jovem rom, trajado de fato de pano azul - melhor dizendo, uns retalhos ligados entre si por meio de um fio muito grosso. O homem arrostava uma moita inextrincável donde retirava um minúsculo ramo coroado por uma flor muito alva. Falou com Marcel, depois olhou para mim. ”Costa”, disse ele. O seu rosto sombrio era jovem, mas ao mais pequeno sorriso a sua expressão adquiria a beleza ambígua de uma faca. Costa veio atrás de nós. Em breve se abriu uma clareira. Estavam ali os homens. Alguns dormiam, ou pareciam dormir, sob o chapéu descido sobre o rosto. Outros jogavam às cartas. Um outro estava sentado num cepo. Rostos de couro, lampejos de prata à cintura ou no chapéu. Armas prontas a assomar ao mínimo ataque. Junto às árvores viam-se sacos de pano cheios de plantas colhidas há pouco.
Marcel dirigiu-se ao homem do cepo. Davam a impressão de se conhecer desde longa data. Após um demorado palavreado, Minaüs apresentou-me e depois disse em francês: - Eis Marin’, o pai de Mariana, a que tem o bebé. Era mulher de Rajko. A jovem permanecia afastada, no meio do matagal. Marin’ fitou-me. A sua pele escura estava crivada de buraquinhos de alfinete, como se lhe tivessem enterrado uma máscara de pregos. Tinha olhos amendoados, cabelos sinuosos e um fino bigode barrava-lhe o rosto. Usava um blusão rasgado por baixo do qual se distinguia uma T-shirt sUja.
Cumprimentei-o e em seguida inclinei-me diante dos outros homens. Tive direito a umas olhadelas. Marin falou-me em romani. Marcel traduziu: - Ele pergunta o que pretendes.
- Explica-lhe que ando a investigar sobre as cegonhas. Que procuro descobrir o motivo por que elas desapareceram no ano passado. Diz-lhe que contava com a ajuda de Rajko. As circunstâncias da sua morte não me dizem respeito. Mas o desaparecimento das aves comporta outros enigmas. Talvez Rajko conhecesse homens do Ocidente, ligados às cegonhas. julgo que ele se relacionava com um certo Max Bõhm.
Enquanto eu ia falando, Marcel mirava-me cheio de incredulidade. Não percebia patavina do discurso. No entanto, traduzia, e Marin’ inclinava levemente a cabeça, sem tirar de mim os seus olhos em fenda. O silêncio impôs-se. Marin examinou-me durante mais um longo minuto. Depois falou. Demoradamente. Pausadamente. Com essa voz característica das almas cansadas, gastas até ao âmago pela crueldade dos outros homens.
- Rajko era um atraso de vida - disse Marin’. - Mas gostava dele como de um filho. Não trabalhava, e não fazia mal. Não se ocupava da família, e isso já era mais grave. Mas eu desculpava-o. Era a natureza dele. O mundo não o deixava em paz. - Tirou uma flor de um saco: - Vês esta flor? Para nós, é apenas um meio de arrecadar alguns leva. Para ele, era um quebra-cabeças, um mistério. Então, estudava, lia, observava. Rajko era um verdadeiro sábio. Conhecia o nome, o poder de todas as plantas, de todas as árvores. Com as aves, sucedia o mesmo. Principalmente com as que viajam no Outono e na Primavera. Como as tuas cegonhas. Fazia cálculos. Escrevia a vários gadjé’ na Europa. Quer-me parecer que o nome que disseste, Bõhm, se contava entre eles.
Rajko era, portanto, outra sentinela de Bõhm. O suíço não se alongara. Eu avançava às cegas. Marin’ prosseguia:
- É por isso que te conto a história. És do género de Rajko, do género cismador. - Eu olhava para Mariana, por entre os ramos. Ela mantinha-se a boa distância do pai. - Mas a morte do filho não tem nada a ver com as tuas aves. É um crime racista que pertence a um outro mundo. O do ódio ao rom. Tudo aconteceu na Primavera, no final de Abril, quando nos púnhamos de novo a caminho. Rajko, esse, tinha os seus hábitos muito pessoais. Logo no mês de Março, montava a cavalo e vinha até aqui, à orla da planície, para espreitar as cegonhas. Vivia sozinho na floresta nessa ocasião. Alimentava-se de raízes, dormia ao relento. E depois aguardava a nossa chegada. Este ano, porém, não havia ninguém para nos acolher. Passámos a planície a pente fino, palmilhámos a floresta; por fim, um de nós encontrou Rajko nas profundezas dos bosques. O corpo já estava frio. Os bichos tinham começado a devorá-lo. Eu nunca vira uma coisa assim. Rajko estava nu. Tinha o peito aberto ao meio, o corpo lacerado de alto a baixo, um braço e o sexo praticamente cortados, as feridas eram mais que muitas. - Mariana, lesta sob as sombras da folhagem, fez um sinal da cruz.
- Para se compreender uma tal atrocidade, homem, é preciso recuar muito no tempo. Podia contar-te muitas histórias. Dizem que viemos da índia, que descendemos de uma casta de dançarinos ou sei lá o quê. São puros disparates. Vou dizer-te donde viemos: das caças ao homem na Baviera, dos mercados de escravos na Roménia, dos campos de concentração na Polónia, onde os nazis nos retalharam como simples cobaias. Vou dizer-te, homem. Conheço uma velha romni que sofreu muito durante a guerra. Os nazis esterilizaram-na. A mulher sobreviveu. Há poucos anos, soube que o governo alemão dava
1 Gadjé: os não-ciganos. No singular, gadjo (donde provém o português «gajo». (N. do T)
dinheiro às vítimas dos campos da morte. Para receber a pensão, era necessário sujeitar-se a uma inspecção médica, comprovar os seus sofrimentos, por assim dizer. A mulher foi ao dispensário mais próximo para que a inspeccionassem e lhe dessem uma certidão. Chegada lá, a porta abriu-se, e quem lhe apareceu? O médico que a operara no campo. A história é verdadeira, homem. Passou-se em Leipzig, há quatro anos. A mulher era a minha mãe. Morreu pouco depois, sem ter recebido um vintém.
- Mas - perguntei -, que relação tem isso com a morte de Rajko?
Marcel traduziu. Marin’ respondeu:
- A relação? - e fixou-me com os seus olhos-seteiras. A relação é que o Mal está a voltar, homem. - Apontou um dedo para o chão. - Nesta terra, o Mal está de volta.
Depois dirigiu-se a Marcel, batendo com a mão no peito. Marcel hesitou em traduzir. Pediu a Marin’ que repetisse. O tom subiu. Marcel não compreendia as últimas palavras. Por fim, virou-se para mim com os olhos cheios de lágrimas e sussurrou:
- Os assassinos, Louis... Os assassinos roubaram o coração de Rajko.
No caminho de regresso a Sliven, ninguém falou. Marin’ dera-nos outros pormenores: depois de descobrirem o corpo, os ciganos tinham prevenido o Dr. Djuric, um médico cigano que estava de visita aos subúrbios de Sliven. Milan Djuric pedira ao hospital uma sala para efectuar a autópsia. A resposta foi negativa. Não havia lugar para um cigano. Mesmo morto. A caravana encaminhara-se para um dispensário. Nova recusa. Finalmente, o cortejo dirigira-se para um ginásio meio-arruinado, reservado aos roms. Fora aqui, sob os cestos de basquete, no meio do cheiro azedo da sala de desportos, que Djuric praticara a autópsia. E aqui descobrira assim o roubo do coração. Redigira um relatório pormenorizado e bem documentado para a polícia, a qual arquivara o processo. Entre os roms, ninguém ficara chocado com tal indiferença. Os ciganos estão habituados. Não, o que preocupava o velho rom era saber ”quem” matara o genro. No dia em que descobrisse o nome destes assassinos, então o sol acariciaria a face das lâminas.
Por ocasião da nossa partida aconteceu algo singular. Mariana abeirara-se de mim e enfiara-me nas mãos um caderno todo engelhado. Nada dissera, mas bastara-me deitar uma olhadela para entender do que se tratava: o caderno pessoal de Rajko. As páginas onde ele anotava as suas observações e teorias a propósito das cegonhas. Escondi logo o documento no porta-luvas.
Ao meio-dia estávamos em Sliven. Era uma cidade industrial, banal entre todas. Tamanho médio, edifícios médios, tristeza média. Esta mediocridade parecia pairar nas ruas como uma poeira mineral, recobrindo as fachadas e os rostos. Marcel tinha encontro marcado com Markus Lasarevitch, uma personalidade do mundo cigano. Devíamos almoçar com ele e, apesar dos acontecimentos, era demasiado tarde para anular o combinado.
Foi um almoço sem apetite, sem qualquer vontade de permanecer à mesa. Markus Lasarevitch era um tipo pedante com um metro e noventa de altura e tez muito escura; usava relógio de corrente e pulseira de ouro. A perfeita imagem do rom que subira na vida urdindo tráficos e embolsando milhões de leva. Um homem insidioso, como que forrado de manha e veludo.
- Compreende - disse ele em inglês enquanto fumava um comprido cigarro de filtro dourado -, a morte de Rajko entristeceu-me muito. Mas isto nunca há-de acabar. Sempre a mesma violência, as mesmas histórias dúbias.
- Na sua opinião - perguntei -, tratar-se-ia de um ajuste de contas entre ciganos?
- Não disse isso. Talvez seja um golpe dos búlgaros. Mas, com os roms, reina sempre a lei da vingança, dos velhos conflitos. Há sempre mais uma casa para incendiar, uma má reputação para assacar. Digo-o com toda a franqueza: eu próprio sou um rom.
- Meu Deus, como podes falar assim? - interveio Marcel.
- Sabes em que condições morreu Rajko?
-Justamente, Marcel. - Deixou cair do cigarro um bocadinho de cinza pardacenta. - Se fosse um malandrim búlgaro, tê-lo-iam descoberto ao fundo de uma rua com uma faca espetada na barriga. Ponto final. Mas um rom, não. Tem de ser encontrado ao fundo de um bosque, com o coração arrancado. Nas nossas terras, ainda arreigadas na superstição e na bruxaria, esta morte abalou perigosamente os espíritos.
- Rajko não era um malandrim - replicou Marcel. Chegaram os acepipes de salada - legumes crus salpicados de queijo ralado. Ninguém lhes tocou. Estávamos numa grande sala vazia, guarnecida de alcatifa castanha, onde se erguiam mesas cobertas de toalhas brancas, sem talheres nem decoração. Lustres de falso cristal pendiam tristemente, reflectindo o ténue brilho do sol lá fora. Tudo parecia pronto para um festim que, sem dúvida, jamais se realizaria. Markus continuou:
- Em volta do corpo não havia qualquer vestígio ou indício. Só o roubo do órgão foi confirmado. Osjornais da região exploraram o caso. Contaram o que lhes apeteceu. Histórias de magia, de bruxas. Pior ainda. - Markus esmagou a ponta do cigarro no cinzeiro. Fitou Marcel bem nos olhos: - Adivinhas o que eu quero dizer?
Não entendi esta alusão. Marcel abriu um parêntese em francês e explicou-me que os roms têm fama de canibais desde há séculos.
- É apenas um velho fantasma - disse Marcel. - O fantasma do ogre, do assassino de crianças, aplicado aos ciganos. Mas o desaparecimento do coração de Rajko deve ter feito tremer muita gente nas choupanas.
Lancei uma mirada a Markus. A sua figura corpulenta não se mexia. Acendera um novo cigarro.
- Há muitos anos que luto para melhorar a nossa imagem continuou ele. - E eis que voltamos à Idade Média! De resto, toda a gente é culpada. Veja se me compreende, senhor Antioche. Não é cinismo. Estou simplesmente a pensar no futuro - e pousou os dedos abertos como tentáculos sobre a toalha branca. - Bato-me pela melhoria das nossas condições de vida, pelo nosso direito ao trabalho.
Markus Lasarevitch era uma individualidade política na região de Sliven. Era o candidato dos roms - o que lhe conferia um poder de monta. Marcel contara-me como Lasarevitch se bamboleava de casaco assertoado pelos guetos de Sliven, perseguido por uma horda de plebe trigueira e sebenta que se agarrava toda contente aos seus belos fatos. Eu imaginava o seu rosto crispado diante destes potenciais eleitores sujos e fedorentos. No entanto, apesar das suas repugnâncias, Markus devia adular os roms. Era o preço das suas ambições políticas e a morte de Rajko constituía uma séria pedra no seu sapato. Lasarevitch apresentava a situação à sua maneira:
- Este desaparecimento aniquila uma grande parte dos nossos esforços, designadamente no plano social. Assim, criei nos guetos centros de cuidados médicos com a ajuda de uma organização humanitária.
- Que organização? - perguntei nervosamente.
- Mundo único - Markus pronunciara o nome em francês e repetiu-o em inglês. - Only World.
Mundo único. Era a terceira vez, em poucos dias e a centenas de quilómetros de distância, que eu ouvia tal nome. Markus prosseguiu:
- Mais tarde, estes jovens médicos foram-se embora. Uma missão urgente, segundo me disseram. Mas não me espanta que eles estivessem fartos das nossas sempre iternas zaragatas, da nossa recusa de nos adaptarmos, do nosso desprezo pelos gadjé. A meu ver, a morte de Rajko acabou por desanimá-los de vez.
- Os médicos partiram logo após a morte de RaJko;
- Não exactamente. Saíram da Bulgária no passado mês de julho.
- Em que consistia a sua actividade?
- Tratavam os doentes, vacinavam as crianças, distribuíam medicamentos. Dispunham de um laboratório de análises e de algum material para pequenas intervenções cirúrgicas. Markus esfregou o polegar e o indicador um contra o outro, em sinal de entendedor. - Há muito dinheiro por detrás do Mundo único. Muito.
Markus pagou a conta e referiu o golpe de estado falhado de Moscovo, dez dias antes. No seu espírito, tudo parecia pertencer a um vasto e único programa político, onde cada elemento desempenhava uma função específica. A miséria dos roms, o homicídio de Rajko e a decadência do socialismo formavam a seus olhos um conjunto lógico que desembocava, já se vê, na eleição da sua pessoa.
Por último, já na escadaria do restaurante, apalpou o tecido do meu casaco e em seguida perguntou-me o preço do Volkswagen, em dólares. Atirei-lhe uma soma exorbitante, pelo simples prazer de o ver acusar o toque. Foi a primeira vez que fez um semblante de desagrado. Bati com a porta do carro. Saudou-nos em jeito de despedida, dobrando o seu grande corpo à altura do meu vidro. Perguntou: - Ainda não percebi bem. Afinal, por que veio à Bulgária?
Ao ligar o motor, resumi-lhe o caso das cegonhas. - Oh, a sério? - comentou ele com um sotaque americano, cheio de condescendência. Arranquei bruscamente.
Às dezoito horas estávamos de regresso a Sófia. Telefonei logo ao Dr. Milan Djuric. Dava consulta em Podliv à tarde do dia seguinte. A mulher dele falava um pouco de inglês. Apresentei-me e avisei-a da minha visita na noite seguinte. Acrescentei que era muito importante para mim encontrar-me com Milan Djuric. Após algumas hesitações, deu-me a morada e acrescentou algumas indicações sobre o itinerário a seguir. Desliguei e interessei-me em seguida pelo meu próximo destino: Istambul.
O envelope de Max Bõhm continha um bilhete de comboio Sófia-Istambul, com a lista dos horários. Todas as noites, por volta das onze horas, partia um comboio para a Turquia.
O suíço pensara em tudo. Meditei por uns minutos no personagem. Conhecia alguém que poderia informar-me acerca dele: Nelly Braesler. Afinal de contas, ela é que me orientara para Bõhm. Levantei o auscultador e marquei o número da minha mãe adoptiva em França.
Consegui a ligação depois de umas dez tentativas. Ouvi o toque de chamada, longínquo, e depois a voz aguda da Nelly, ainda mais longínqua.
- Estou?
- É o Louis - disse eu friamente.
- Louis? Meu pequenino, então onde está?
Reconheci sem custo o seu tom melífluo, falsamente amistoso, e senti os nervos esticarem-se-me sob a pele.
- Na Bulgária.
- Na Bulgária? O que anda aí a fazer?
- A trabalhar para Max Bõhm.
- Pobre Max. Acabo de saber a notícia. julgava que ficara tudo anulado...
- Bõhm pagou-me para um trabalho. Mantenho-me fiel ao meu compromisso. A título póstumo.
- Podia ter-nos prevenido.
- Tu, Nelly, é que devias ter-me avisado. - Tratava Nelly por tu, mas ela empenhava-se em usar comigo o ”você”. Quem era Max Bõhm? O que sabias acerca do trabalho que ele pretendia oferecer-me?
Louis, meu pequenino, o seu tom assusta-me. O Max Bõhm era um simples ornitólogo. Conhecemo-lo durante um colóquio ornitológico. Sabe perfeitamente que o Georges se interessa por estas questões. O Max mostrou-se muito simpático. Além do mais, viajara muito. Visitáramos os mesmos países e...
- Como a República Centro-Africana? - interrompi. A Nelly fez uma pausa, depois respondeu mais baixo:
- Como a República Centro-Africana, sim...
- O que sabias da missão que ele queria confiar-me?
- Nada, ou quase. Em Maio, o Max escreveu-nos a dizer que procurava um estudante para uma breve missão ao estrangeiro. Naturalmente, lembrámo-nos de si.
- Sabias que essa missão tinha a ver com cegonhas?
- Sim, recordo-me vagamente...
- Sabias que a missão comportava riscos?
- Riscos? Meu Deus, não...
Mudei de tecla: - O que sabes acerca de Max Bõhm, da sua família, do seu passado?
- Nada. O Max era um homem muito solitário.
- Falou-te alguma vez da mulher?
Uma série de ruídos dificultaram a comunicação.
- Muito pouco - respondeu a Nelly numa voz surda.
- Nunca mencionou o filho’,
- O filho? Não fazia a mínima ideia de que tinha um filho. Não entendo as suas perguntas, Louis...
Uma nova onda de crepitações invadiu a linha. Berrei:
- última pergunta, Nelly: sabias que Max Bõhm fizera um transplante cardíaco?
- Não! - A voz da Nelly tremia. - Sabia apenas que ele sofria do coração. Morreu de enfarte, não é verdade? Louis, a sua viagemjá não tem razão de ser. Acabou tudo...
- Não, Nelly, pelo contrário, tudo começa agora. Telefono-te mais tarde.
- Louis, meu pequenino... quando volta? As interferências irrompem de novo.
- Não sei, Nelly. Dá um beijo ao Georges. Tem cuidado contigo.
Pousei o auscultador. Estava transtornado, como todas as vezes que falava com a minha mãe adoptiva. A Nelly não sabia de nada. Os Braesler eram sem dúvida demasiado ricos para serem desonestos.
Olhei para o relógio: vinte horas. Redigi rapidamente um fax destinado a Hervé Dumaz, descrevendo as medonhas descobertas do dia. Rematei prometendo-lhe que doravante levaria a cabo o meu próprio inquérito sobre o passado de Max Bõhm.
Nessa noite, Marcel decidiu levar-nos a mim e a Yeta ao restaurante. Era uma ideia estranha, depois das horas que acabávamos de passar. Mas Minaüs era partidário dos contrastes - e afirmava que precisávamos de espairecer.
O restaurante situava-se no bulevar Ruski. Marcel armou-se em mestre-de-cerimónias e perguntou ao empregado da recepção - apertado num smoking branco e sujo - se era possível jantar no terraço. O homem disse que sim e indicou-nos a escada. O terraço ficava no primeiro andar.
Era uma sala disposta ao comprido, de janelas abertas que dominavam o amplo bulevar. Os cheiros que viajavam até ali incitavam-me à prudência: carne grelhada, salsicha, toucinho fumado... Instalámo-nos. Volvi um relance de olhos à decoração: guarnições de madeira fingidas, uma alcatifa castanha, lustres de cobre. Algumas famílias falavam em voz baixa. Só de um recanto mais escuro vinha um certo alarido - búlgaros que abusavam do arkhi, a vodca local. Peguei numa lista, traduzida para o inglês, enquanto Marcel compunha a ementa de Yeta numa voz doutoral. Observava-os pelo rabo do olho. Ele, com a sua comprida barba e o seu crânio afilado. Ela, muito direita, deitando olhares assustados em redor com o seu rosto de pequeno mamífero a espiar tudo cheio de desconfiança, lá do fundo da melena grisalha. Eu não conseguia adivinhar os laços que uniam estes dois passarocos. A romni não arriscara uma palavra desde a noite anterior.
O empregado chegou. Começaram logo as dificuldades. já não havia saladas sortidas. Nem caviar de beringelas, Nem sequer turchía (prato à base de legumes). E peixe ainda menos. Perdendo a paciência, perguntei ao empregado o que restava na cozinha. ”Exclusivamente carne”, respondeu-me em búlgaro, com um sorriso desagradável nos lábios. Optei assim pelo acompanhamento do bife - feijão verde e batata -, esclarecendo que não queria carne. Marcel admoestou a minha falta de apetite, lançando-se em considerações fisiológicas muito precisas.
Meia hora depois apareciam os meus legumes. Ao lado jazia uma carne em sangue, mal passada. Um nó de repulsa tolheu-me a garganta. Agarrei o empregado pelo casaco e ordenei-lhe que levasse imediatamente o prato. O homem debateu-se. Voaram talheres, quebraram-se copos. O homem insultou-me e começou a agarrar-me por seu turno. já estávamos de pé, prontos para o combate, quando Marcel logrou separar-nos. O empregado tirou dali o prato, rogando pragas, enquanto os bebedolas me encorajavam erguendo os seus copos lá do fundo. Sentia-me como louco, tremendo dos pés à cabeça. Ajeitei a camisa e saí para a varanda para recobrar a calma.
Sófia estava agora envolta num ar fresco. A varanda dominava a praça Narodrio-Sabranie, onde se ergue a Assembleia Nacional. Podia admirar daqui uma grande parte da cidade, tenuemente iluminada.
Sófia estende-se no côncavo de um vale. Em volta, quando anoitece, as montanhas adquirem uma delicada cor azul. A cidade, ao invés, vermelha e castanha, parece concentrar-se sobre si mesma. Guindada, atormentada, fantasmal, com as suas construções sanguíneas e as suas muralhas gredosas, Sófia surgia-me como uma urbe de orgulho no coração dos Balcãs. Surpreendia-me a sua vivacidade, a sua diversidade, que não coincidiam com os chavões miserabilístas dos países de Leste. É claro que a cidade tinha a sua boa dose de prédios cinzentos, de bichas nas bombas de gasolina, de armazéns vazios, mas também era alvadia e arejada, cheia de doçura e loucura. O seu relevo imprevisto, os eléctricos alaranjados e as lojas de cores variadas davam-lhe um aspecto de estranho parque de diversões, onde as atracções oscilassem entre o riso e a inquietude.
Marcel veio ter comigo ao terraço.
- Então, isso já está melhor? - perguntou dando-me uma palmadinha no ombro.
- Já.
Soltou uma gargalhada nervosa: - Não é contigo que hei-de montar o meu restaurante cigano.
- Lamento muito, Marcel. Devia ter-te prevenido. O mais pequeno bife faz-me fugir a sete pés.
- Vegetariano?
- Sim, de certo modo.
- Não tem importância, - Passeou o olhar pela cidade iluminada, depois repetiu: - Não tem importância. Eu também não tinha fome. Este restaurante não foi uma boa ideia. Calou-se durante uns instantes.
- Rajko era um amigo, Louis. Um puro e terno amigo, um jovem maravilhoso que conhecia a floresta melhor do que ninguém e que conseguia encontrar os sítios mais abundantes para cada planta. Era o cérebro dos Nicolitch. Desempenhava um papel essencial nas suas colheitas.
- Por que razão já não vias Rajko há seis meses? Por que motivo ninguém te avisou da sua morte
- Na Primavera passada estive na Albânia. Não tarda muito que grasse por lá uma terrível fome. Tento sensibilizar os poderes franceses. Quanto a Marin’ e aos outros, por que haviam de me avisar Ficaram apavorados. E, bem vistas as coisas, não passo de um gajo.
- Tens alguma ideia sobre o assassinato de Rajko?
Marcel encolheu os ombros. Não respondeu logo, como se quisesse ordenar melhor os seus pensamentos.
- Não tenho explicação. O universo dos roms é um universo de violência. Antes de mais nada, entre eles. Puxam facilmente da faca, e ainda são mais despachados no soco. Têm uma mentalidade de brigões. Mas a violência mais funesta vem do exterior. É a dos gajé. Incansável, insidiosa. Uma violência que os acossa por toda a parte e os persegue desde há séculos. Conheci tantos bairros de lata nas imediações das grandes cidades da Bulgária, dajugoslávia, da Turquia... Barracas aglutinadas no meio da lama, onde sobrevivem famílias sem ofício nem futuro, em luta contra um racismo que não dá tréguas. Por vezes são ataques directos, violentos. Outras vezes, o sistema é mais refinado. Trata-se de leis e de medidas legais. Mas o resultado é sempre o mesmo: fora com os roms! Assisti a tantas expulsões, à força de polícias, bulldozers, incêndios... Vi crianças morrerem assim, Louis, nos escombros das barracas, nas chamas das caravanas. Os roms são a peste, a doença abominável. Então, o que sucedeu a Rajko? Francamente, não sei. Talvez fosse um crime racista. Ou uma ameaça para expulsar os roms da região. Ou até uma estratégia para lançar o descrédito sobre eles. De qualquer modo, Rajko não passou da vítima inocente de uma história sórdida.
Registei estas informações. Ao fim e ao cabo, talvez essa ”história sórdida” não tivesse a mínima relação com Max Bõhm e os seus enigmas. Mudei de assunto:
- O que pensas do Mundo único?
- Os médicos do gueto? São impecáveis. Compreensivos e devotados. É a primeira vez que alguém vem ajudar verdadeiramente os roms da Bulgária.
Voltou-se para mim:
- Mas tu, Louis, por que andas metido nisto? És realmente ornitólogo? Qual é o caso tão grave de que falaste a Marin’? E o que vêm fazer as cegonhas no meio de tudo?
- Eu próprio não sei. Escondi-te algo, Marcel: foi Max Bõhm quem me pagou para seguir as cegonhas. Entretanto, este homem morreu e, desde o seu desaparecimento, os mistérios acumulam-se. Não posso dizer-te mais nada, mas uma coisa é certa: o ornitólogo não era uma pessoa impoluta.
- Por que aceitaste o trabalho?
- Terminei há pouco dez anos de estudos estafantes, que me enfadaram para sempre de qualquer preocupação intelectual. Durante dez anos não vi nada, não vivi nada. Queria pôr cobro a esta masturbação do espírito, que deixa uma tremenda sensação de vazio, uma fome de existência capaz de nos levar a bater com a cabeça nas paredes. Tornara-se para mim uma obsessão. Romper a minha solidão, conhecer o desconhecido, Marcel. Quando o velho Max me propôs atravessar a Europa, o Próximo Oriente, a África, para seguir cegonhas, não hesitei um só instante.
Yetajuntou-se a nós. Impacientava-se. O empregado recusava-se a servi-la. No fim de contas, nenhum de nós jantara. Por entre a escuridão nascente, o céu desdobrava profundezas de lã escura.
- Vamos - disse Marcel. - Não tarda aí uma trovoada.
O meu quarto era anónimo, a luz anémica. O trovão ribombava lá fora, sem que a chuva se dignasse vir. O calor sufocava e não havia ar condicionado. Esta temperatura era uma surpresa. Eu sempre imaginara os países de Leste numa frialdade lúgubre, a braços com a falta de aquecimento e gorros de pele.
Às vinte e duas horas e trinta consultei os dados do Argos. As duas primeiras cegonhas de Sliven já deslizavam na direcção do Bósforo. As localizações indicavam que haviam pousado nessa mesma tarde, às dezoito e quinze, em Svilengrad, perto da fronteira turca. Uma outra cegonha chegara a Sliven ao entardecer. As outras seguiam imperturbavelmente. Também observei a outra rota, a do Oeste; as oito cegonhas que tinham ido pela rota de Espanha, Marrocos... A maior parte delas já haviam ultrapassado o estreito de Gibraltar e voavam em direcção ao Saara.
A trovoada continuava a estrondear. Estendi-me na cama, apaguei a luz do tecto e acendi o candeeiro da mesinha-de-cabeceira. Só então abri o caderno de Rajko.
Era um autêntico hino à cegonha. Rajko anotava tudo: as passagens das aves, o número de ninhos, de crias, de acidentes... Traçava médias, esforçava-se por elaborar sistemas. O seu caderno estava crivado de colunas e arabescos cifrados que não teriam desagradado a Max Bõhm. Também escrevia à margem os seus comentários num inglês canhestro. Reflexões sérias, amistosas, humorísticas. Dera alcunhas aos casais que se anichavam em Sliven, explicando o motivo num índice. Descobri assim as ”Cinzas de Prata”, que se abrigavam num tapete de musgo; os ”Bicos de Ericanto”, cujo macho tinha um bico assimétrico; as ”Primaveras Púrpuras”, que se haviam instalado por ocasião de um crepúsculo avermelhado.
Rajko também combinava as suas observações com esquemas técnicos e estudos anatómicos. Outros esboços esmiuçavam os diferentes modelos de anéis: francês, alemão, holandês e, está claro, os de Bõhm. Inscrevera a data e o lugar de observação ao lado de cada desenho. Houve um pormenor que me impressionou: as cegonhas dotadas de dois anéis ostentavam dois modelos diferentes. O anel indicativo da data do seu nascimento era fino e todo seguido. O que Bõhm colocara posteriormente era mais espesso e parecia abrir-se como uma tenaz. Fui buscar as fotografias e estudei as patas dos voláteis. Rajko vira bem. Não se tratava dos mesmos anéis. Meditei sobre esta particularidade. As inscrições dos anéis eram Idênticas: data e lugar da colocação, mais nada.
Lá fora a chuva caía finalmente. Abri asjanelas e deixei entrar uns grandes suspiros de frescura. Sófia, ao longe, espraiava as suas luzes como uma galáxia perdida numa tempestade de prata. Voltei à leitura.
As últimas páginas eram consagradas às cegonhas de 1991. Havia sido a derradeira Primavera de Rajko. Tal como joro, notara que ao longo dos meses de Fevereiro e Março as cegonhas de Bõhm não regressavam. E, ainda à semelhança de joro, supusera que esta ausência se devia ao facto de tais aves terem sido feridas ou estarem doentes. Não havia mais nada que Rajko pudesse dizer-me. Acompanhei os seus últimos dias através do seu diário. A 22 de Abril a página estava em branco.
Ao longo da História, o nomadismo dos ciganos aparece acima de tudo como uma consequência das perseguições, do racismo incansável dos gadjé.
Às seis horas da manhã, por entre o alvorecer toldado dos campos búlgaros, já Marcel discorria enquanto conduzia:
- Os ciganos que se mantêm viandantes são os mais pobres, os mais infelizes. Põem-se a caminho a cada Primavera, sonhando com uma casa ampla e aquecida. Paralelamente, e reside aqui todo o paradoxo, este nomadismo continua enraizado na cultura cigana. Até os roms sedentários se fazem de vez em quando à estrada. É assim que os homens encontram as suas esposas, é assim que as famílias se unem. Esta tradição transcende a deslocação física. É um estado de espírito, um modo de vida. A casa de um rom é sempre concebida como uma tenda: um grande compartimento, elemento essencial da vida comunitária, onde os arranjos, os ornamentos e os objectos fazem lembrar a decoração de uma caravana.
Yeta dormia no banco de trás. Era o dia 31 de Agosto. Eu já só passaria mais dezasseis horas na Bulgária. Queria voltar a Sliven para interrogar novamente Marin’ e consultar osjornais locais de 23 e 24 de Abril de 1991. Se a polícia arquivara o caso, talvez os jornalistas tivessem por seu lado descoberto alguns pormenores na altura. Eu não acreditava muito nestas conjecturas, mas tais diligências iriam ocupar-me até à minha entrevista com o Dr. Djuric, depois do entardecer. Por outro lado, queria apanhar as cegonhas no momento em que acordassem ao longo da grande planície.
A visita aosJornais não me serviu de nada. Os artigos a propósito do caso Rajko constituíam apenas uma torrente de palavreado racista. Markus LasareVitch tinha razão: a morte de Rajko abalara os espíritos.
O Atkino sustentava a tese do ajuste de contas entre roms.
Segundo o artigo, dois clãs de ciganos recolectores de plantas tinham-se defrontado por causa de um terreno. O texto concluía de forma requísitória contra os roms, recordando vários escândalos que haviam agitado Sliven nos últimos meses e nos quais os ciganos desempenhavam um papel central. O crime de Rajko não passava afinal de uma apoteose. Era preciso evitar que as florestas se transformassem em territórios de guerra, perigosos para os camponeses búlgaros e sobretudo para os seus filhos que por lá passeavam. Marcel ia-se enfurecendo à medida que traduzia o artigo.
O Kutba, principal jornal da UDF - o partido da oposição -, explorava antes o filão da superstição. O artigo insistia na ausência de indícios. E desenrolava uma chusma de suposições baseadas na magia, na bruxaria. Assim, Rajko cometera sem dúvida uma falta”. A fim de o castigarem, o seu coração fora arrancado e depois oferecido à crueldade de alguma ave de rapina. O artigo terminava com um aviso, em tom apocalíptico, endereçado aos habitantes de Sliven contra os ciganos, verdadeira bicharia diabólica.
Quanto à União dos Caçadores, o artigo, bastante breve, limitava-se a delinear um historial da barbaridade dos roms. Casas incendiadas, crimes, roubos, zaragatas e outras malfeitorias eram descritos num estilo indiferente, até à afirmação do canibalismo dos ciganos. Para o fundamentar, o redactor invocava um episódio sobrevindo na Hungria no século XIX, em que alguns ciganos tinham sido acusados de antropofagia.
- O que eles não dizem - espumejou Marcel -, é que os roms foram ilibados dessas acusações. Demasiado tarde, aliás, visto que mais de cem ciganos haviam sido linchados no fundo dos pântanos.
Era de mais! Minaüs desatou a vociferar na velha tipografia. Chamou em alta gritaria o chefe de redacção, começou a fazer voar maços de papel, entornou a tinta, abanou o velhote que nos permitira consultar os arquivos. Consegui acalmar Marcel. Saímos. Yeta troteava atrás de nós sem perceber patavina.
Nas proximidades da gare de Sliven avistei um bufete construído em materiais pré-fabricados e sugeri um café turco. Marcel resmungou em romani durante meia hora, até que por fim caiu em si. Atrás de nós, uns ciganos trincavam amêndoas num silêncio de feras. Minaüs não pôde resistir. Dirigiu-lhes a palavra, no seu romani dos grandes dias. Os roms sorriram, depois responderam. Não tardou que Marcel rebentasse a rir.
O seu belo humor vinha de novo à tona. Eram dez horas. Propus ao meu companheiro mudar de horizonte e percorrer os campos em busca de cegonhas. Marcel aceitou entusiasmado. Eu começava a compreender melhor a sua personalidade: Minaüs era um nómada, no espaço mas também no tempo. Vivia exclusivamente no presente. De um instante para o outro, estabelecia-se uma diferença nítida e radical no seu espírito.
Atravessámos antes de mais uns vinhedos. Coortes de romnis colhiam uvas, curvadas sobre os plantios tortuosos. Os densos perfumes do fruto flutuavam nos ares. à nossa passagem, as mulheres levantavam-se e saudavam-nos. Sempre os mesmos rostos, sombrios e morenos. Sempre as mesmas farpelas de cores vivas e variegadas. Algumas delas tinham as unhas pintadas de um vermelho escarlate. Depois surgiu a planície imensa, deserta, onde se erguia de quando em quando uma árvore em flor. Mas a maior parte das vezes somente se recortavam filas de pântanos negros e brilhantes por entre as ervas vicejantes.
De súbito, uma longa crista esbranquiçada destacou-se da paisagem. ”Ei-las”, murmurei. Marcel pegou no meu binóculo e acertou-o na direcção do bando. Ordenou imediatamente:
- Mete por aquela estrada - indicando uma vereda à direita. Virei e segui pelos trilhos lamacentos. Rodámos devagar ao encontro das cegonhas. Havia ali várias centenas. Entorpecidas, silenciosas, especadas sobre uma pata. - Desliga o motor ciciou Marcel. Saímos e avançámos. Algumas aves estremeceram, bateram as asas e depois levantaram voo. Parámos. Trinta segundos. Um minuto. As aves retomaram o seu ritmo, debicando na terra, avançando no seu andar delicado. Demos mais uns passos. Estavam a trinta metros. Marcel disse: - É melhor ficarmos aqui para não as afugentarmos. - Empunhei de novo o binóculo e observei as cegonhas: nenhuma tinha anel.
A manhã terminou na clareira de Marin’. Os roms foram mais acolhedores. Aprendi o nome das mulheres: Sultana, a mulher de Marin’, a giganta da camisola cor de girassol; Zainepo, a do nariz torto, mulher de Mermet; Katio, de mãos nas ancas, melena ruça, esposa de Costa. Mariana, a viúva de Rajko, acarinhava Denke, o seu bebé de três meses. O sol erguera-se. Subia das ervas uma efervescência orquestrada pelo turbilhão dos insectos.
- Gostava de falar com quem descobriu o corpo - disse eu finalmente.
Marcel fez uma careta. No entanto, traduziu o meu pedido. Marin’, por seu turno, medíu-me dos pés à cabeça com desdém e chamou Mermet. Era um colosso de pele escura e rosto agudo, escondido sob madeixas luzidias. O rom não tinha a mínima vontade de conversar. Arrancou uma ervinha e pôs-se a mascá-la com um ar ausente, sussurrando umas palavras.
- Não há nada para dizer - traduziu Marcel. - Mermet descobriu Rajko nos bosques. Toda a família batia o campo à procura dele. Mermet aventurou-se num recanto aonde nunca vai ninguém. Dizem que há por lá ursos. E encontrou o corpo.
- Mais exactamente onde? No matagal? Numa clareira? Marcel traduziu a minha pergunta. Mermet respondeu. Minaüs retomou a palavra:
- Numa clareira. A erva era muito curta, parecia aplanada.
- Havia algum vestígio nessa erva?
- Nenhum.
- E em volta, havia sinais? Passos? Pneus?
- Não. A clareira é muito dentro da floresta. Os carros não têm acesso.
- E o corpo? - continuei. - Como estava o corpo? Dava sinais de Rajko se ter debatido?
- É difícil dizer - respondeu Marcel depois de escutar Mermet. - Estava estendido com os braços ao longo do corpo. Tinha a pele golpeada em todos os sentidos. As entranhas jorravam por uma fenda acastanhada, que começava aqui Mermet apontou para o coração. - O seu rosto era o mais esquisito. Dir-se-ia cortado ao meio. De olhos arregalados. Muito brancos. Cheios de medo. E, pelo contrário, a boca fechada, apaziguada, de lábios calmos.
- É tudo? Nada mais a assinalar?
- Não.
Mermet calou-se durante uns segundos, sem parar de mascar o talo de erva, antes de acrescentar:
- Na véspera deve ter havido uma tempestade dos diabos. De facto, naquele sítio todos os arbustos estavam deitados, com a folhagem em desalinho.
- última pergunta: Rajko falara-te de alguma coisa, de uma descoberta que tivesse efectuado? Parecia recear algo? Mermet rematou, pela voz de Marcel:
- Ninguém o viajá há dois meses.
Tomei nota destes pormenores no meu canhenho, depois agradeci a Mermet. Ele meneon ligeiramente a cabeça. Tinha o ar de um lobo a quem oferecessem um prato de leite. Regressãmos ao acampamento. As crianças quiseram ouvir no leitor do automóvel algumas das suas cassetes. O Volkswagen, de portas abertas, metamorfoseou-se num ápice numa orquestra cigana, onde clarinete, acordeão e tambores disputavam entre si uma corrida trepidante. Sentia-me um tanto surpreendido. Como toda a gente, julgava que a música cigana era tecida de violinos e de langores. Esta estridência tinha mais o cunho obsidiante de uma dança de dervixes.
Sultana serviu-nos café turco: um líquido amargo que flutuava sobre as borras. Provei a bebida com a ponta dos lábios. Marcel tomou-a em pequenos goles, num jeito de apreciador, tagarelando animadamente com a mulher-girassol. Pareceu-me que falava de café, de receitas, de métodos. Em seguida, virou a chávena e aguardou uns minutos. Por fim, escrutou o fundo com um olhar entendido e depois comentou-o, ajudado por Sultana. Compreendi que discorriam sobre a melhor maneira de ler nas borras.
Quanto a mim, lançava sorrisos um pouco ao acaso, com o espírito alterado. Para Marin’ e os outros, a morte de Rajko pertencia ao passado (Marcel explicara-me que, ao cabo de um ano, o nome do morto é libertado: pode-se então dá-lo a um recém-nascido, organizar um banquete e dormir em paz, pois doravante a alma do defunto cessa de atormentar os sonhos dos seus irmãos). Para mim, ao invés, este desaparecimento pulverizava o presente. E, sem dúvida, mais ainda o futuro.
As catorze horas as nuvens estavam de regresso. Convinha partir para apanhar Milan Djuric ao entardecer, em Sófia. Saudámos a kumpania e abalámos sob os sorrisos e os abraços.
A estrada atravessava os subúrbios de Sliven. Bairros de lata poeirentos, sulcados por caminhos de terra onde jaziam aqui e além carcaças de automóveis. Abrandei.
- Tenho muitos amigos aqui - disse Marcel. - Mas Prefiro poupar-te a isso. Vamos.
À beira do asfalto, crianças saudaram a nossa passagem: ” Gadjé, gadjé, gadjé!”. Caminhavam descalças. Os seus rostos estavam sujos e dos seus cabelos despontavam crostas de porcaria. Acelerei. Ao fim de uns momentos, rompi o silêncio:
- Marcel, diz-me uma coisa: por que motivo andam as crianças roms tão sujas?
- Não é negligência, Louis. É uma velha tradição. Segundo os roms, uma criança é tão bonita que pode suscitar a inveja dos adultos, sempre prontos a deitar mau-olhado. É por isso que nunca as lavam. É uma espécie de disfarce. Para ocultar a sua beleza e pureza aos olhos dos outros.
Durante o trajecto, Marcel falou-me de Milan Djuric.
- É um tipo estranho - disse ele. - Um cigano solitário. Ninguém sabe exactamente donde vem. Fala perfeitamente francês. Dizem que estudou Medicina em Paris. Apareceu nos Balcãs durante os anos setenta. Desde então, percorre a Bulgária, a Jugoslávia, a Roménia, a Albânia e dá consultas gratuitas. Trata os roms com os meios que tem ao seu alcance. Alia a medicina moderna aos conhecimentos botânicos dos ciganos. Salvou assim várias mulheres de graves hemorragias. Tinham sido esterilizadas na Hungria ou na Checoslováquia. Todavia, Djuric foi acusado de praticar abortos clandestinos. Até acabou condenado duas vezes, creio. Puras mentiras. Assim que saiu da prisão, recomeçou as suas digressões. No mundo dos roms, Djuric é uma celebridade, quase um mito. Atribuem-lhe poderes mágicos. Aconselho-te a ir vê-lo sozinho. Talvez fale a um gajo. Dois, seria demasiado.
Uma hora mais tarde, por volta das dezoito horas, chegávamos às imediações de Sófia. Atravessámos primeiro uns bairros escala’vrados, rodeados de valas profundas, depois seguimos ao longo de baldios onde acampavam ciganos que porfiavam em viver. As suas tendas encharcadas pareciam prestes a submergir nas aluviões. Imagem irrisória: rapariguinhas romnis, envergando umas largas calças de fazenda, à oriental, estendiam roupa no meio daquele apocalipse de chuva e lama. Olhares melindrados. Sorrisos furtivos. Uma vez mais, a beleza e o orgulho do povo rom iam direitos ao meu coração.
Meti pelo bulevar Lenine e depus Marcel e Yeta na praça de Naradno-Sabranie. O casal possuía um apartamento de duas divisões ali perto. Marcel quis explicar-me onde morava Milan Djuric. Tirou um velho bloco de notas do bolso e começou a encher uma página inteira com esquemas, acrescentando inscrições cirílicas. ”Assim já não te enganas”, disse ele continuando a desbobinar nomes de ruas, desvios, pormenores inúteis. Finalmente, inscreveu a morada exacta de Djuric em caracteres latinos. Insistiram em acompanhar-me depois à gare. Marcámos encontro para as vinte horas, ali mesmo.
Voltei ao Sheraton, fechei o saco de viagem e paguei a conta, em vários maços espessos de leva. Indaguei se havia algum recado. Às dezoito e trinta rodava novamente nas ruas de Sófia, a doce.
Enveredei uma vez mais pelo bulevar Ruski, depois virei à esquerda para ir ter à avenida do General Vladimir Zaimov. Os letreiros luminosos serpenteavam nas poças. Atingi o alto de uma colina. Lá em baixo estendia-se uma verdadeira floresta. «Atravessas o parque>, dissera Marcel. Andei assim vários quilómetros por entre bosques emaranhados. Avistei quarteirões tristes ao longo de um bulevar pardacento. Descobri enfim a rua. Virei, hesitei, fazendo abanar o chassis do carro sobre a calçada esburacada, depois cruzei de cá para lá uns prédios anónimos. O doutor morava no edifício 3 C. Em parte alguma encontrei o número. Mostrei o meu canhenho a crianças roms que brincavam à chuva. Indicaram-me o prédio, situado mesmo à minha frente, soltando gargalhadas.
Lá dentro, o calor redobrou. Cheiros a fritura, couve e lixo saturavam a atmosfera. Ao fundo, dois homens batiam com a porta do ascensor. Uns colossos alagados em suor, cujos músculos reluziam sob a luz crua de uma lâmpada eléctrica. «Dr. Djuric?», perguntei. Indicaram-me o número 2. Subi de um ímpeto as escadas e vi a placa do médico, Um barulho infernal ecoava atrás da porta. Toquei Várias vezes. Vieram abrir-me. A música agrediu-me os tímpanos. Uma mulher muito roliça e morena postava-se diante de mim. Repeti o meu nome e o de Djuric. Ela acabou por me deixar entrar e depois deixou-me num corredor exíguo, entre intensos eflúvios de alho e um exército de sapatos. Descalcei os meus Dockside e esperei, com o suor a escorrer-me pela cara.
Fecharam-se portas, o ruído aumentou e afastou-se em seguida. Ao fim de uns segundos, reconheci no meio do vozeio a música que Marin’ e a sua gente tinham escutado no meu carro, as mesmas trepidações, a mesma loucura espiralada de clarinete e de acordeão. Aqui, entravam na luta uns requebros de voz. Uma voz de mulher - rouca e plangente.
- Linda voz, não é?
Franzi os olhos na direcção da sombra. Vi um homem parado ao fundo do corredor: o Dr. Milan Djuric. Fiel aos seus devaneios, Marcel não me dissera o principal: Milan Djuric era anão. Um anão, enfim, não minúsculo (devia medir um metro e cinquenta), mas patenteando certos traços característicos da sua enfermidade. A cabeça parecia enorme, o torso adivinhava-se fornido, e as pernas arqueadas recortavam-se na sombra como tenazes. Não lhe via o rosto. Djuric voltou à carga, numa voz grave e em francês impecável:
- É Esma. A diva dos roms. Na Albânia, os primeiros tumultos iniciaram-se com os seus concertos. Quem é o senhor?
- Chamo-me Louis Antioche - respondi. - Sou francês. Venho por indicação de Marcel Minaüs. Pode conceder-me uns minutos?
- Siga-me.
Virou-me as costas e sumiu-se à direita. Fui atrás dele. Passámos por uma sala onde berrava a televisão. No ecrã, uma mulher ruiva e enorme, mascarada de camponesa, rodopiava e cantava como um pião branco e vermelho, acompanhada por um velho acordeonista. O espectáculo era um tanto consternador, mas a música era esplêndida. No compartimento, alguns roms esgoelavam-se cada vez mais alto. Bebiam e comiam com grande abundância de gestos e gargalhadas. As mulheres usavam brincos de reverberações fulvas e compridas tranças muito pretas. Os homens traziam na cabeça uns chapelinhos de feltro.
Penetrámos no gabinete; Djuric fechou a porta e correu um pesado cortinado que atenuou o ruído da música. Abarquei todo o compartimento com um só olhar. A alcatifa estava puída, os móveis pareciam de papelão. A um canto erguia-se um leito munido de ferros e correias. Ao lado, sobre prateleiras de vidro, dispunham-se instrumentos de cirurgia enferrujados.
Por breves instantes, tive a impressão de entrar na casa de um abortador clandestino ou nalgum endireita. Envergonhei-me logo deste pensamento. Djuric fora várias vezes detido por causa de tais preconceitos. Mílan Pjuríc era simplesmente um médico rom que tratava outros roms.
- Sente-se - disse ele.
Escolhi uma poltrona vermelha de braços rachados. Djuric ficou de pé por uns momentos, postado na minha frente. Tive oportunidade de o observar. O seu rosto era fascinante, uma bela cara que parecia esculpida em casca, de feições expressivas e regulares. Sobressaíam uns olhos verdes, emoldurados por uns grossos óculos de massa. Era um homem de uns quarenta anos, prematuramente envelhecido. Podia-se seguir, escavado na sua pele escura, o curso das rugas e o seu cabelo, muito farto, era de um cinzento metálico. No entanto, certos pormenores denunciavam nele a força e um dinamismo inesperados. Os braços musculosos esticavam o tecido da camisa e, vendo bem, a parte superior do seu corpo era de dimensão normal. Milan Djuric foi sentar-se atrás da secretária. Lá fora a chuva redobrava. Comecei por felicitar o médico pela qualidade do seu francês.
- Estudei em Paris. Na faculdade da rua dos Saints-Pères. Calou-se para volver logo a seguir:
- Basta de cortesias, senhor Antioche. O que pretende?
- Vim falar-lhe de Rajko Nicolitch, o cigano que foi morto no passado mês de Abril na floresta de Sliven. Sei que realizou a autópsia. Gostaria de lhe fazer umas perguntas.
- Pertence à polícia francesa?
- Não, mas esse desaparecimento talvez esteja relacionado com um inquérito que levo actualmente a cabo. Nada o obriga a responder-me. Mas deixe-me contar-lhe uma história. julgará por si mesmo se a minha solicitação merece algum crédito.
- Sou todo ouvidos.
Contei-lhe a minha aventura: a missão original que Max Bõhm me confiara, a morte do ornitólogo, os mistérios que envolviam o seu passado, as estranhas circunstâncias com que topava no meu caminho: os dois búlgaros empenhados igualmente em investigar sobre as cegonhas, a presença a cada passo do Mundo único...
Ao longo do meu discurso, o anão ouviu tudo sem pestanejar. Por fim, inquiriu:
- Qual é a relação com a morte de Rajko?
- Rajko era ornitólogo. Observava a passagem das cegonhas. Estou convencido de que estas aves encerram um segredo. Um segredo que Rajko talvez tenha descoberto em resultado dos seus cálculos. Um segredo que, se calhar, lhe custou a vida. julgo, doutor Djuric, que as minhas suposições devem parecer-lhe vãs. Mas o facto é que realizou a autópsia do corpo. Pode facultar-me novos elementos. Em dez dias, percorri três mil quilómetros. Falta-me cobrir cerca de dez mil. Esta noite, às onze horas, tomarei o comboio para Istambul. Aqui em Sófia, só o senhor pode ainda revelar-me alguma coisa.
Djuric fixou-me por instantes e puxou de um maço de cigarros. Depois de me ter oferecido um (que recusei), acendeu o dele servíndo-se de um avantajado isqueiro cromado que exalava um intenso odor a gasolina. Uma onda de fumo azul separou-nos durante uns momentos e de seguida perguntou simplesmente, num tom neutro:
- É só isso?
Senti a cólera subir-me à garganta:
- Não, doutor Djuric. Existe neste caso uma outra coincidência que se articula mal com as aves, mas que não deixa de ser perturbadora: Max Bõhm fizera um transplante cardíaco, e ainda por cima não tinha ficha médica nem dados arquiVados em qualquer clínica.
- Aí está - disse Djuric, depondo a cinza numa larga taça.
- Falaram-lhe sem dúvida do roubo do coração de Rajko, e deduziu que há um tráfico de órgãos ou sei lá o quê.
- Bem...
- Patranhas. Ouça, senhor Antioche. Não me apetece ajudá-lo. Nunca ajudarei um gajo. Mas um certo número de explicações irão descarregar a minha consciência. - Abriu uma gaveta e pousou sobre a secretária umas folhas agrafadas.
- Eis o relatório de autópsia que redigi no dia 23 de Abril de
1991, no ginásio de Sliven, após quatro horas de trabalho e de observações no corpo de Rajko Nicolitch. Na minha idade, recordações como estas contam a dobrar. Esforcei-me por redigir o relatório em búlgaro. Podia muito bem tê-lo escrito em romani. Ou em esperanto. Ainda ninguém o leu. Não entende o búlgaro, pois não? Vou então fazer-lhe um resumo.
Pegou nas folhas e tirou os óculos. Os olhos, como por encanto, reduziram-se a metade.
- Primeiro, situemos o contexto. No dia 23 de Abril, de manhã, efectuava uma visita de rotina no gueto de Sliven. Costa e Mermet Nicolitch, dois recolectores de plantas que conheço bastante bem, vieram procurar-me. Acabavam de descobrir o corpo de Rajko e estavam persuadidos de que o primo fora atacado por um urso. Quando vi o corpo na clareira, compreendi que tal não correspondia à verdade. As feridas que cobriam o corpo de Rajko eram de dois tipos distintos. Havia realmente mordeduras de animais, mas eram posteriores a outros ferimentos, praticados por meio de instrumentos cirúrgicos. Por outro lado, o sangue em volta era demasiado pouco. Se atendermos aos golpes, Rajko devia estar a nadar em borbotões de hemoglobina. Não era o caso. Por último, o corpo estava nu e duvido que um animal selvagem se dê ao trabalho de despir a sua vítima. Pedi aos Nicolitch que transportassem o corpo até Sliven, a fim de proceder à autópsia. Procurámos um hospital. Pura perda. Fomos assim parar ao ginásio, onde pude trabalhar e, enfim, retraçar nas suas grandes linhas as derradeiras horas de Rajko. É melhor escutar:
Excertos do relatório de autópsia de 2314191:
Sujeito: Raiko Nicolitch, sexo masculino. Nu. Nascido Por volta de
1963, skenderum, Turquia. Morte provável em 2214191, na floresta das Águas Claras, perto de Sliven, Bulgária, entre as vinte e as vinte e três horas, em consequência das sequelas de um ferimento profundo na região do coração.
Djuric ergueu o olhar, depois comentou: - Omito aqui a apresentação geral do sujeito, Ouça a descrição das feridas: Parte superior do corpo. Rosto intacto, excepto um sinal de mordaça em torno dos lábios. Língua seccionada (provavelmente a vítima mordeu-a, a ponto de a cortar mesmo). Não há sinais visíveis de equimoses na nuca. O exame da fàce anterior do tórax mostra um golpe longitudinal, rectilíneo, desde as clavículas até ao umbigo. É uma incisão perfeita, realizada com um instrumento cortante, de tipo cirúrgico talvez um bisturi eléctrico, pois as bordas do ferimento são pouco hemorrágicas. Discernimos igualmente múltiplas lacerações, efectuadas com outro instrumento cortante, no pescoço, na fàce anterior do tórax, nos braços. Amputação total do braço direito, ao nível do ombro. Numerosas marcas de garras, na borda do golpe torácico-abdominal. Em princípio, garras de urso, de lince. Múltiplas mordeduras: no torso, nos ombros, nosflancos, nos braços. Contamos cerca, de vinte e cinco ovais, todas elas com traços de dentes na Periferia, mas a carne está demasiado retalhada para conservar estes indícios. Costas intactas. Vergões de amarras nos ombros e nos punhos.
Interrompeu-se, tirou outra baforada e retomou:
- O exame da metade superior da cavidade torácica revela a ausência do coração. As artérias e veias contíguas foram seccionadas com Precaução, o mais longe possível do órgão colhido: método clássico para evitar qualquer traumatísmo do coração. Há outros órgãos mutilados: pulmões, fígado, estômago, vesícula biliar. Estão semidevorados, de certo pelos animais selvagens. Os segmentos defibras orgânicas ressequidas, encontrados no interior e no exterior do corpo, não permitem qualquer registo de marcas. Nenhum sinal de hemorragia na cavidade torácica.
Parte inferior do corpo. Ferimentos Profundos na região da virilha direita, com a artéria femoral posta a descoberto. Múltiplas lacerações no pênis, nos órgãos genitais e no alto das coxas. O instrumento cortante parece ter maltratado esta região com insistência. O sexo jà só está preso por alguns filamentos teciduais. Numerosos traços de garras nas coxas. Marcas de mordeduras animais nas duas pernas. Face interna da coxa direita despedaçada à dentada. Sinais de amarras nas coxas, nosjoelhos, nos tornozelos.
Pjuric ergueu os olhos e disse:
- Aqui tem as conclusões do exame Post-mortem, senhor Antioche. Efectuei alguns testes toxicológicos e depois restituí o corpo à família, devidamente limpo. Sabia assim o suficiente sobre a morte de um rom, que aliás não desencadearia qualquer averiguação policial.
Eu estava todo arrepiado e só conseguia respirar aos repelões. Djuric tornou a pôr os óculos e acendeu outro cigarro. O seu rosto tortuoso dava a impressão de bailar através do fumo.
- Na minha opinião, passou-se o seguinte: atacaram Rajko na noite de 22 de Abril, em plena floresta. Amarraram-no e depois reduziram-no ao silêncio. Em seguida praticaram uma longa incisão no seu tórax. A colheita do coração foi efectuada de maneira perfeita por um cirurgião de ofício. Diria que foi a fase 1 do homicídio. Rajko morreu durante esta etapa, não tenho a mínima dúvida a esse respeito. Tudo se passou muito calmamente até aqui. Muito profissionalmente. O assassino retirou o órgão com paciência e zelo. Depois, tudo se precipitou.
O assassino, ou outra pessoa, munido de um instrumento cirúrgico, encarniçou-se contra o cadáver, estriando a carne de lado a lado, atardando-se na região da púbis, escarafunchando com a lâmina e manejando-a em vaivém sobre o pênis como se fosse uma serra. Era a fase 2 da carnificina. Finalmente, vieram os bichos da floresta, que acabaram o trabalho. Neste aspecto, o corpo está em relativo bom estado, se nos lembrarmos de que passou uma noite entre predadores. Explico este facto pela pincelagem assepsiada que o assassino ou assassinos espalharam no tórax antes da operação. O cheiro manteve sem dúvida os animais à distância durante várias horas. Eis o resumo dos factos, senhor Antioche. Sobre a questão do local do crime, diria que tudo decorreu no sítio onde encontraram o corpo, em cima de um oleado ou coisa parecida. A ausência de vestígios em volta da clareira confirma esta hipótese. Não é preciso frisar-lhe que se trata certamente do crime mais atroz que vi até hoje. Disse a verdade aos Nicolitch. Era importante que soubessem. Esta atrocidade propalou-se em seguida como um
rastro de sangue através do país, culminando nas atoardas que deve ter lido na imprensa local. No que me toca, não tenho comentários a fazer. Tento apenas esquecer este pesadelo.
Um ruído de porta. Novamente as vozes ciganas, o estrépito espiralado, os eflúvios de alho. A mulher roliça e morena entrou, munida de um tabuleiro contendo uma garrafa de vodca e sodas. Os seus brincos tilintaram pesadamente quando pousou o tabuleiro numa mesinha ao pé da minha poltrona. Recusei o álcool. Ela serviu-me um líquido amarelado que tinha a tonalidade da urina. Djuric encheu um cálice de vodca para si. A minha garganta estava seca como um guarda-fogo. Bebi de um trago a bebida gasosa. Esperei que a mulher fechasse a porta para dizer:
- Apesar da barbárie do crime, acha que pode tratar-se de uma operação cirúrgica destinada a colher o coração de Rajko?
- Sim e não. Sim, porque a técnica cirúrgica e uma relativa assepsia parecem ter sido respeitadas. Não, porque alguns pormenores não se ajustam. Tudo se passou na floresta. Ora, a ablação de um coração requer condições de anti-sepsia de extremo rigor, impossíveis de respeitar em plena natureza. Mas, sobretudo, era necessário que o ”paciente” estivesse sob anestesia. Ora, Rajko estava consciente.
- Aonde quer chegar?
- Procedi a uma colheita de sangue. Nenhum vestígio de sedativo. A esternotomia foi praticada sem supressão da sensibilidade. Rajko morreu de sofrimento.
Senti o suor escorrer-me pela espinha abaixo. Os olhos de Djuric, tão saídos que pareciam à flor do rosto, fitavam-me por detrás dos óculos. Dir-se-ia que saboreava os efeitos da sua última frase.
- Por favor, doutor. Explique-se melhor.
- Para além da ausência de produtos anestesiantes no sangue, há sinais que não enganam. Falei dos vergões de amarras nos ombros, nos punhos, nas coxas, nos tornozelos. Tratava-se de correias ou de tiras de borracha. Tão apertadas que talharam a carne à medida que o corpo se contorcia de dor. A mordaça também era especial: um adesivo muito poderoso. Quando efectuei a autópsia, cerca de dezoito horas após a morte de Rajko, a barba já tornara a crescer, pois o sistema piloso continua a brotar durante aproximadamente três dias após o óbito. Excepto em volta dos lábios, que permaneceram imberbes. Porquê? Porque, ao arrancarem o adesivo, os assassinos depilaram brutalmente esta parte do rosto. O corpo foi assim reduzido a uma imobilidade perfeita e a um silêncio total. Como se os assassinos tivessem querido desfrutar deste sofrimento sem que nada lhes tolhesse as mãos, remexendo à vontade nas carnes palpitantes. Enfim, poderia falar-lhe da boca de Rajko. O rom, sob o efeito da dor, mordeu a língua até a cortar ao meio. Sufocou por causa do pedaço assim solto e do sangue quejorrava da sua garganta obstruída. Eis a verdade, senhor Antioche. A operação que lhe descrevi é uma aberração, uma monstruosidade que só pode ter saído de cérebros doentes, ébrios de loucura e de racismo.
Insisti: - O facto de o dador ter estado consciente torna o coração inutilizável? Quero dizer: os espasmos do sofrimento podem aniquilar as funções do órgão-,
- Mas que perseverante, Antioche! Não, paradoxalmente, não. A dor, mesmo extrema, não estraga o coração. Neste caso, o órgão bate muito depressa, alvoroça-se e já não irriga o corpo. Logo., fica em bom estado. Aqui, para lá do sadismo do acto, é o absurdo técnico que se torna incompreensível. Porquê operar um corpo vibrante, latejante, quando uma anestesia proporciona a desejada imobilidade?
Mudei de direcção:
- Pensa que um tal crime pode ter sido perpetrado por um búlgaro?
- Não é concebível.
- E a hipótese de um ajuste de contas entre roms, como li i
nos jornais?
Djuric encolheu os ombros. O fumo viajava entre nós.
- Ridículo. Demasiado refinado para uns roms. Sou o único médico em toda a Bulgária. Por outro lado, não se enxerga o mínimo móbil. Eu conhecia Rajko. Vivia na maior das purezas.
- Purezas?
- Vivia à rom. Da exacta maneira como deve viver um rom. Na nossa cultura, a existência quotidiana é regida por um conjunto de leis, um código de atitudes muito estrito. Nesta rede de regras e interditos, a pureza é uma noção central. Rajko era fiel às nossas leis.
- Não havia então nenhum motivo para matar Rajko?
- Nenhum.
- Não poderia ele ter descoberto algo de perigoso?
- O quê? Diga-me lá... Rajko não se interessava senão, por plantas e aves.
-Justamente.
- Está a aludir às cegonhas? Lérias! Em nenhum país se mataria alguém por causa de umas aves. E ainda por cima daquela forma.
Djuric tinha razão. Esta súbita violência não se casava com as cegonhas. Estávamos mais na vertente das fotografias de Max Bõhm ou do mistério do seu coração. O anão alisou o cabelo com a mão. As suas madeixas prateadas assemelhavam-se à cabeleira sintética de uma boneca. As têmporas reluziam-lhe de suor. Esvaziou o cálice e depois pousou-o brutalmente, em sinal de conclusão. Atirei uma última pergunta:
- As equipas do Mundo único estavam aqui na região durante o mês de Abril?
-Julgo que sim.
- Esses homens dispunham do material que referiu.
- Não faça deduções erradas, Antioche. As pessoas do Mundo único são muito decentes. Não percebem nada das coisas dos roms, mas têm uma grande abnegação. Não vá espalhar as suas suspeitas por todos os cantos. Não ganhará nada com isso.
Qual é o seu ponto de vista?
O homicídio de Rajko é um enigma total. Nenhuma testemunha, nenhum vestígio, nenhum móbil. Sem contar com a perfeição da técnica. Depois da autópsia, pensei no pior. Admiti uma maquinação racista que visaria particularmente os ciganos. Cogitei assim: o tempo do nazismo voltou. Vão ser cometidos outros crimes. Mas não... Desde Abril que não aconteceu nada. Nem aqui, nem em qualquer outra parte dos Balcãs. Sinto-me aliviado. E decidi averbar este assassinato no nosso balanço de vitórias e derrotas. Devo parecer-lhe cínico. Mas não faz a mínima ideia do quotidiano dos roms. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro não são mais do que perseguições, manifestações hostis, negação. Viajei muito, Antioche. Encontrei em todos os lados o mesmo ódio, o mesmo receio do nómada. Luto contra isto. Atenuo os sofrimentos do meu povo na medida do possível. Paradoxalmente, o facto de ser um enfermo deu-me uma força tremenda. No vosso mundo, um anão é apenas um monstro que sucumbe sob o fardo da sua diferença. Eu, porém, era antes de tudo um rom. A minha origem foi por assim dizer uma graça, uma segunda oportunidade, entende? O combate da minha diferença reforçou-se com outra causa, muito mais vasta, mais nobre. A do meu povo. Por conseguinte, deixe-me seguir o meu caminho. Se uns sádicos decidiram estripar as suas vítimas (melhor seria que atacassem agora os gadjés), estou-me marimbando para isso.
Levantei-me. Pjuric torceu-se na sua poltrona para pôr um pé no chão. Precedeu-me no seu andar coleado. já no corredor, ainda martelado pela música, calcei os meus Dockside sem uma palavra. Na altura de se despedir de mim na penumbra sufocante, Djuric mirou-me durante uns segundos.
- É estranho. O seu rosto é-me familiar, Talvez tenha conhecido alguém da sua família quando estava em França...
- Duvido. A minha família nunca viveu na metrópole. Além do mais, os meus pais faleceram quando eu tinha seis anos. Nãojulgo ter outros laços familiares.
Djuric não escutou a minha resposta. Os seus olhos globulosos permaneciam fixados no meu rosto, como o foco de um holofote. Murmurou finalmente, baixando a cabeça e esfregando a nuca:
- É esquisita, esta impressão...
Abri a porta para evitar apertar-lhe a mão. Djuric rematou:
- Boa sorte, Antioche. Mas contente-se com o estudo das cegonhas. Os homens não merecem a sua atenção. Sejam eles rom ou gadjé.
Às vinte e uma e trinta penetrei na gare de Sófia, acompanhado por Marcel e Yeta. Pairava aqui uma espécie de bruma dourada, movediça, fantástica. Pendurado lá no alto, um relógio de metal em forma de espiral sobranceava o átrio imenso. As suas agulhas giravam em movimentos bruscos, ao sabor das partidas e das chegadas. Cá em baixo reinava a barafunda. Viam-se turistas carregados de malas a avançar em grupos atarantados. Operários, enlameados ou ensebados, a passar de olhar vazio. Mães de família, ataviadas de lenços coloridos, a arrastar atrás de si uma petizada vestida às três pancadas, de calções e sandálias. Militares de uniforme de caqui a cambalear e a rir, de caixão à cova. Mas, sobretudo, havia os roms. Em cima dos bancos, adormecidos. Nos cais, apinhados em grupo. Sobre os carris, saboreando salsichas ou bebendo vodca. Por toda a parte, mulheres com lenços bordados a ouro, homens de tez semelhante a carvalho, crianças seminuas, indiferentes aos horários, aos comboios e a todos os que corriam ao encontro do seu itinerário, do seu sonho ou do seu ofício.
Mais discretamente, surgiam outros pormenores. Cores brilhantes, barretinas de feltro, músicas ondeantes, difundidas por telefonias, amendoins vendidos ali mesmo no cais. A gare de Sófia erajá o Oriente. Nela começava o mundo fervilhante de Bizâncio, dos hammams’, das cúpulas de ouro, dos cinzelados e
1 Estabelecimentos de banhos no Oriente. (N. do T)
dos arabescos. Nela começavam o Islão, os minaretes erguidos e os chamamentos infatigáveis dos muezins. De Veneza, de Belgrado, passava-se por Sófia para alcançar a Turquia. Era a grande viragem - a viragem decisiva do Expresso do Oriente.
- Antioche... Antioche... que raio de nome Para uma família francesa. É o nome de uma cidade antiga da Turquia
- exclamou Marcel ao mesmo tempo que me seguia a toda a pressa.
Retorqui, mal o escutando:
- As minhas origens são obscuras.
- Antioche... já que vais à Turquia, dá uma saltada até lá, perto da fronteira síria. A cidade chama-se agora Antakya. Na Antiguidade, Antioquia era uma urbe imensa, a terceira do Império Romano, depois de Roma e Alexandria! Hoje, a cidade perdeu o seu esplendor, mas há certas coisas que merecem ser vistas, muito interessantes...
Não respondi. Marcel estava a tornar-se maçador. Eu procurava a via 18, em direcção a Istambul. Situava-se nos confins da gare, para lá do átrio central.
- Vou dar-te as chaves - disse a Marcel. - Entregarás pessoalmente o carro.
- Não há problema, aproveitei para passear com Yéta na Sofia by night!
A via 18 estava deserta. O meu comboio ainda não chegara. Adiantáramo-nos mais de uma hora. Uns comboios velhos, nos carris vizinhos, barravam-nos todo o horizonte. No entanto, à direita, atrás de umas carruagens empoeiradas, avistei dois homens. Pareciam caminhar na mesma direcção que nós, mas não traziam bagagens. Marcel disse: - Ver-nos-emos sem dúvida em Paris, em Outubro, quando eu for a França. - Em seguida dirigiu a palavra a uma romni que esperava ali sozinha com o filho. Pousei o meu saco. Revolvia no espírito as palavras de Djuric e tinha pressa de me instalar no comboio, de ficar sozinho para reflectir em tudo o que acabava de saber.
Voltei a entrever os dois homens para além das carruagens adormecidas. O mais alto vestia um casacão azul-escuro, de matéria acrílica. Os seus cabelos eriçados assemelhavam-se a cacos de vidro. O outro era uma espécie de colosso baixote, de semblante pálido, roído por uma barba de três dias. Dois mal-encarados, como os há em todas as gares. Marcel continuava a conversar com a romni. Por fim, virou-se para mim e explicou-me:
- Ela gostava de viajar no teu compartimento. É a primeira vez que anda de comboio. Vai juntar-se à família em Istambul...
Olhei para os dois homens, a menos de cinquenta metros mesmo à nossa frente, entre o espaço das carruagens. O baixote voltara-se. Parecia procurar algo dentro do seu impermeável. Um comprido traço de suor escurecia-lhe as costas, O tipo alto cravava em nós os seus olhos febris. Marcel, brincalhão, prosseguia: - Mas cuidado, não toques nela antes de saíres da Bulgária! Sabes como são os roms! - O baixote rodopiou. Eu disse: - Vamo-nos embora daqui. - Baixei-me para pegar no saco. A minha mão apertava a correia quando ressoou uma leve detonação. Atirei-me lestamente para o chão e torci a cabeça para berrar ”Marcel!”. Demasiado tarde: o seu crânio acabava de voar em estilhas.
Ouviu-se outro plop sob uma chuva de sangue. O grito estridente de Yeta rasgou o espaço - era a primeira vez que eu ouvia a voz dela. Uma, duas, três, quatro detonações abafadas ecoaram, Vi Yeta propulsada no vazio. Um foco minúsculo, vermelho-rubro, corria em todos os sentidos. Pensei ”mira laser” e rastejei no meio do sangue que aderia ao asfalto. Deitei uma olhadela à direita - a romni estava crispada sobre o filho, com as mãos negras de sangue. Uma olhadela à esquerda: os assassinos corriam todos dobrados para diante a fim de me descobrirem entre as rodas de aço - o homem de impermeável empunhava uma espingarda de assalto munida de um silenciador. Deslizei para dentro do fosso, no lado oposto aos atacantes. Tropecei no corpo de Yeta - vísceras róseas e encarnadas palpitavam entre as pregas do seu vestido - e corri batendo com os tornozelos nos carris.
Atingi a extremidade das vias, sempre abrigado no fosso. Observei o átrio. A multidão movia se por ali, indiferente. O relógio lá em cima marcava 21:55. Depois de ter examinado os rostos mais próximos, levantei-me e caminhei através da turba, abrindo passagem com os cotovelos e apertando contra mim o meu saco ensanguentado. Finalmente cheguei às portas de saída. Nem sinal dos assassinos.
Corri até ao parque de estacionamento e mergulhei no meu carro. Por sorte ainda tinha as chaves. Arranquei de rompante, escorregando e derrapando sobre o asfalto molhado. Não sabia para onde ir, mas saí dali carregando no prego. As imagens explodiam no meu cérebro: o rosto de Marcel arrojado pelos ares em pedaços sangrentos, o corpo de Yeta a tombar nos carris, a romni abraçada ao filho. Tudo vermelho, só vermelho e mais vermelho.
Rodava há cinco minutos quando um arrepio me electrizou a nuca. Um automóvel, uma berlinda escura, vinha no meu encalço sem dar descanso. Acelerei, virei à esquerda, depois à direita. O carro ainda ali estava. Seguia de faróis apagados, a uma velocidade alucinante. Um candeeiro iluminou furtivamente o interior do automóvel. Os assassinos apareceram.
O gigante ao volante, o baixote já sem esconder a arma - uma espingarda curta, de cano largo. Tinham amplificadores de luz enfiados na cabeça.
Virei à esquerda numa artéria comprida e deserta e carreguei no acelerador. A berlinda veio atrás. Agarrado ao volante, tentei ordenar os meus pensamentos. O avanço de que dispunha não resistia. Aliás, os assassinos aproveitaram a linha recta para me acossarem, guarda-lamas contra guarda-lamas. As carroçarias roçaram-se, deslizando numa chiada húmida. Virei as rodas à direita tão bruscamente que a berlinda continuou em frente. Atingi os duzentos quilómetros à hora. Na avenida, os candeeiros de sódio tremulavam no meio da tempestade. De repente, solavanquei sobre uma passagem de nível e o chassis abalroou o asfalto num estalido de metal. A avenida, a partir dali, reduzia-se a uma única faixa.
Os meus faróis, no máximo, desvendaram um novo cruzamento. Meti pela direita e foi então que um relâmpago negro me barrou o caminho: a berlinda, atravessada na estrada. Ouvi as primeiras balas a resvalar sobre o capô. A chuva jogava a meu favor. Recuei à esquerda na primeira rua perpendicular
- o bastante para ver a berlinda passar diante de mim -, depois embrenhei-me em frente, numa rua a descer. Arremeti, perdendo ímpeto à medida que me embrenhava num imbróglio de ruas abauladas, com barracões negros e comboios adormecidos. Desta vez penetrei numa zona de entrepostos, sem luz. Apaguei os faróis e saí da estrada para galgar o talude. Insinuei-me entre as carruagens, aos abanões e patinando, até parar ao longo de uma via-férrea. Abandonei o carro, A chuva cessara. A trezentos metros erguia-se na sombra um entreposto devoluto. Alcancei a construção a passo de lince.
As vidraças estavam todas partidas, as paredes esventradas, uma profusão de cabos arrancados retorciam-se por todo o lado - a presença humana abandonara já há muito este local.
O chão não era mais que um demorado arrulho - um tablado móvel de penas e cagadelas. Milhares de pombos tinham elegido domicílio ali. Ousei umas passadas. Foi como se a noite se rasgasse - uma miríade de corpos a bater as asas e a piar-me nos tímpanos. As penas adejaram, ao mesmo tempo que um odor acre. Engolfei-me num corredor. Eflúvios de petróleo e de sebo enchiam o ar húmido. Os meus olhos adaptavam-se à escuridão. À direita abria-se uma sucessão de gabinetes, já sem vidros nas janelas. O chão estava juncado de cacos. Segui por ali fora, saltando por cima de cadeiras quebradas, armários caídos, telefones em fanicos. Apareceu uma escada.
Subi os degraus, sob uma abóbada esbranquiçada de dejectos de aves. Tive a impressão de entrar no olho do cu de um pombo monstruoso. No primeiro andar descobri uma sala imensa. Quatrocentos metros quadrados absolutamente vazios, abertos a todos os ventos. Só uma correnteza de pilares rectangulares atravessava o espaço a intervalos regulares. No chão via-se de novo uma infinidade de fragmentos de vidro a brilhar na noite. Escutei. Nenhum roído, nenhum sopro. Percorri a sala devagarinho, depois atingi uma porta de metal, trancada por pesadas correntes. Estava bloqueado, mas ninguém viria procurar-me aqui. Decidi esperar pelo amanhecer. Varri os cacos e instalei-me atrás do último pilar. Sentia o corpo moído, mas o medo dissipara-se todo. Fiquei assim, acocorado ao pé da coluna, e não tardei a adormecer.
Os rangidos do vidro acordaram-me. Abri os olhos e vi as horas no meu relógio: 2:45. Os patifes tinham gasto mais de quatro horas a encontrar-me. Ouvia os seus passos a chiar no chão atrás de mim. Tinham sem dúvida descoberto o meu carro e procuravam agora o meu rastro - como dois animais à espreita. Ressoaram uns batimentos de asas. Lá muito em cima ouvia-se o martelar da chuva que recomeçara. Arrisquei uma olhadela. Não vi nada. Os dois assassinos não utilizavam lanterna nem qualquer fonte de luz - só os amplificadores de luz. De súbito estremeci: este tipo de equipamento é por vezes dotado de um detector térmico. Se fosse o caso, o calor do meu corpo iria provocar uma bela sombra vermelha por detrás do pilar. A porta diante de mim estava trancada. Os assassinos bloqueavam a outra saída.
Os rangidos avançavam a uma cadência regular. Primeiro uma série de passos, uma pausa - dez a quinze segundos -, depois uma nova série de passos. Os meus perseguidores deslocavam-se juntos, pilar a pilar. Não suspeitavam da minha presença - avançavam num passo discreto, mas sem precauções especiais. Inexoravelmente, iriam apanhar-me atrás da última coluna. Quantos pilares haveria ainda entre nós? dez? Doze? Os assassinos ladeavam as colunas pela esquerda. Limpei o véu de suor que me toldava a vista. Tirei os sapatos lentamente e pendurei-os à volta do pescoço usando os atacadores. Ainda mais lentamente, tirei a camisa e rasguei-a com os dentes, centímetro após centímetro, e enrolei os farrapos nos pés - os passos aproximavam-se.
Estava de tronco nu, esgazeado, ressumbrando medo. Lancei uma mirada de detrás do pilar e saltei para a direita, pespegando-me atrás do pilar seguinte. Só pusera uma vez o pé no chão, assentando as minhas solas de algodão sobre as lascas de vidro. Nenhum ruído, nenhum sopro. Do outro lado, ouvia novamente os ruídos de cacos. Esgueirei-me logo para trás do pilar seguinte. Restavam cinco ou seis colunas entre nós. Voltei a ouvi-los. Pulei para trás do pilar seguinte. O meu plano era simples. Dentro de poucos segundos, os assassinos e eu estaríamos situados de cada lado do mesmo pilar. Precisaria então de me desviar para a direita, enquanto eles passariam à esquerda. Era um projecto insensato, quase infantil. Mas era a última esperança. Baixei-me muito devagar e recolhi com dois dedos uma tira de gesso encimada por um caco de vidro. Passei sucessivamente três pilares. Um ruído de respiração petrificou-me. Estavam ali, da parte de lá. Contei dez segundos e depois, ao primeiro rangido, passei para a direita, apoiando no pilar as minhas costas ardentes.
O estupor fez-me cair o coração aos pés. Diante de mim postava-se o gigante de casacão, com um revérbero de metal na mão. Levou um décimo de segundo a perceber o que se passava. No décimo seguinte já tinha o caco espetado na garganta. O sangue esguichou e gorgolejou entre os meus dedos cerrados. Larguei a arma, abri os braços e amparei o corpo que se abateu pesadamente. Dobrei-me sobre as pernas, depois baldeei o colosso para cima das minhas costas. A manobra atroz era tornada mais fácil e como que lubrificada pelo sangue que corria ajorros. Ajoelhei-me, de mãos no chão. As palmas queimadas e insensíveis fincaram-se sobre o vidro partido sem a mais pequena dor - era a primeira vez que a minha enfermidade me salvava a vida. O corpo continuava a verter o seu sangue cálido. De olhos arregalados, a garganta aberta num grito ausente, eu ouvia o outro assassino que não parava de avançar, sem desconfiar de nada. Deixei escorregar a massa inerte ao longo dos ombros, sem um ruído, e safei-me, tão ligeiro quanto o medo. Só ao descer os degraus, brancos de cagadelas, é que me dei conta de qual era a arma do assassino: um bisturi de alta frequência, ligado a uma bateria eléctrica presa à cintura.
Corri até ao carro e arranquei logo, manobrando por entre as moitas húmidas em direcção à estrada alcatroada. Após meia hora de sentidos únicos e ruas escuras, meti pela auto-estrada, a caminho de Istambul. Rodei durante muito tempo, a mais de duzentos e trinta quilómetros à hora, com os faróis no máximo contra as trevas.
Não demorei muito a aproximar-me da fronteira. O meu rosto devia estar manchado de vermelho, os meus dedos pegadiços de sangue. Parei. Vislumbrei no retrovisor as crostas coaguladas sobre as pálpebras, os meus cabelos aglutinados pelo sangue do outro. As minhas mãos puseram-se a tremer. O tremor comunicou-se aos braços, aos maxilares, em estremeções. Saí do carro. A chuva redobrava. Despi-me e fiquei de pé, direito e nu sob a bátega, sentindo a frescura da lama a impregnar-me os tornozelos. Permaneci assim, cinco, dez, vinte minutos, enxaguado pelas gotas, lavado das marcas do meu crime. Em seguida, tornei a abrigar-me no carro, busquei roupa seca e vesti-me. As feridas eram superficiais. Encontrei pensos no estojo de farmácia e apliquei-os rapidamente nas palmas depois de as ter desinfectado.
Atravessei a fronteira sem problemas, apesar do atraso em relação às quarenta e oito horas autorizadas. Em seguida, voltei a acelerar. Amanhecia. Uma placa indicou: ESTAMBUL, 80 KM. Abrandei. Três quartos de hora mais tarde já me acercava dos arredores da cidade, enquanto ia procurando um ponto preciso na minha documentação sem deixar de guiar. O mapa era claro. Em Paris, à custa de telefonemas e inquéritos, localizara este sítio ”estratégico”. Por fim, após alguns rodeios, atingi o alto das colinas de Büyük Küçük Carilyca, acima do Bósforo.
Visto dali, o estreito assemelhava-se a um gigante de cinzas, imóvel e enviscado. Istambul surgia ao longe por entre a bruma, de minaretes alçados e cúpulas em repouso. Parei. Eram seis e trinta. O silêncio espraiava-se, puro, cheio dos pormenores que eu amo: chilreios de aves, balidos longínquos, o tufo do vento na erva movente. Aos poucos, o ouro do sol veio acender as águas. Quedei-me de olhos postos no céu, empunhando o binóculo. Nem uma ave, nem uma sombra. Passou mais de uma hora e depois, de repente, lá muito no alto, recortou-se uma nuvem formigante, ondulante. Por vezes negra, outras vezes branca. Eram elas. Um grupo de mil cegonhas aprestavam-se a transpor o estreito. Eu nunca contemplara um tal espectáculo. Uma sumptuosa dança alada de bicos erguidos, movidos pelo mesmo vigor, a mesma tenacidade, Como uma vaga espaçosa e leve cUja espuma fosse de penas, a simples força do vento puro...
Sob o meu olhar, no céu perfeito, as cegonhas elevaram-se mais, até se tornarem ínfimas. Em seguida, de um só ímpeto, atravessaram o estreito. Pensei nas cegonhas novas que tinham levantado voo na Alemanha, guiadas apenas pelo instinto. Pela primeira vez na sua existência, elas triunfavam sobre o mar. Baixei de súbito o binóculo e escrutei as águas do Bósforo.
Pela primeira vez na minha vida, matara um homem.
De Istambul, dirigi-me de carro até Izinir, no Sudoeste da Turquia. Aqui, devolvi o Volkswagen ao concessionário local. Os agentes fizeram um ar de desagrado ao verem o estado do veículo mas, de acordo com o prometido nas brochuras publicitárias, mostraram-se bastante conciliadores. Apanhei em seguida um táxi até Kusadasi, minúsculo porto donde partia um ferry para a ilha de Rodes. Era o dia 1 de Setembro. Embarquei às dezanove e trinta, depois de tomar um duche e mudar de roupa num quarto de hotel. Optava agora por um traje anónimo - Tshirt, calças de pano e colete de safari cor de areia - e não me separaria mais do meu chapéu de gorelex, nem dos meus óculos de sol, duas garantias suplementares de anonimato. O saco de viagem não sofrera qualquer dano, nem tão-pouco o computador portátil. Quanto às minhas mãos, os ferimentos já estavam a cicatrizar. Às vinte horas precisas deixei a costa turca. No dia seguinte de manhã, ao alvorecer, junto à fortaleza de Rodes, subi para outro barco, rumo a Haifa, Israel. A travessia do Mediterrâneo iria durar cerca de vinte quatro horas. Contentei-me em beber chá preto ao longo deste cruzeiro forçado.
O rosto de Marcel, ceifado pelo primeiro tiro, o corpo de Yeta, perfurado por todos os lados, o da criança cigana, sem dúvida morta por uma das balas que me eram destinadas - todas estas imagens não cessavam de me lacerar a memória. Três inocentes haviam morrido por minha causa. E eu continuava vivo. Esta injustiça obsidiava-me. Invadia-me a ideia de vingança. Curiosamente, em tal lógica, o facto de ter já assassinado uma criatura importava-me pouco. Era um ”homem a abater” que avançava para o desconhecido, pronto a matar ou a ser morto.
Contava seguir as cegonhas até ao fim. A migração das aves podia parecer muito fútil comparada com os acontecimentos que acabavam de ocorrer. Mas, bem vistas as coisas, as aves é que me haviam colocado nesta rota de violência. E estava mais do que nunca persuadido de que elas desempenhavam um papel essencial em toda a história. Os dois homens que tinham tentado matar-me não seriam os dois búlgaros mencionados porjoro? E a arma da minha vítima - um bisturi de alta frequência - não denotaria um laço directo com o homicídio de Rajko?
Antes de embarcar, telefonara do hotel para o Centro Argos. As cegonhas continuavam a sua rota - um pelotão dianteiro chegara a Dói-tyol, no golfo de Iskenderum, ao pé da fronteira Turquia-Síria. A média delas já não tinha nada a ver com as avaliações dos ornitólogos - estas cegonhas ultrapassavam alegremente os duzentos quilómetros por dia. Exaustas, iriam sem dúvida descansar nas imediações de Damasco, antes de tornarem a partir a caminho da sua passagem obrigatória: os pântanos de Beit She’an na Galileia, onde se alimentavam de peixe nos lagos de piscicultura. Era esse o meu destino.
Durante a travessia acudiram-me outras perguntas. O que descobrira eu afinal para merecer a morte? E quem me entregara aos assassinos: Milan Djuric? Markus Lasarevitch? Os ciganos de Sliven? Seria seguido desde que partira? E o que vinha fazer no meio de tudo o resto a organização Mundo único? Quando esta espiral de perguntas me dava algum descanso, esforçava-me por dormir. Amodorrava-me na coberta do navio ao som das ondas rumorejantes, depois acordava quase a seguir e as perguntas assediavam-me de novo.
Às nove horas da manhã, no dia 3 de Setembro, Haifa apareceu através da pulverulência do ar. O porto oscilava entre o centro industrial e a zona residencial - a cidade alta recortava-se nos flancos do monte Carmelo, clara e serena. Na fornalha do cais, onde a multidão se apressurava bradando e acotovelando-se, discerni uma certa agitação aquecida ao rubro, viva e perfumada, que me fazia lembrar as feitorias orientais dos romances de aventuras. A realidade era menos romântica.
Israel achava-se em estado de guerra. Uma guerra de nervos e desgaste, tensa e subterrânea. Uma guerra sem tréguas, entremeada de furores e actos de violência. Assim que pus o pé em terra, esta tensão saltou-me à vista. Primeiro revistaram-me. Inspeccionaram a bagagem minuciosamente. Em seguida submeteram-me a um interrogatório cerrado, num pequeno desvão fechado por um cortinado branco. Uma mulher fardada bombardeou-me com perguntas em inglês. Sempre as mesmas. Por uma determinada ordem, depois por outra. ”Por que vem a Israel?”, ”Quem vai visitar?”, ”O que tenciona fazer aqui?”, ”Já veio antes?”, ”O que levou?”, ”Conhece israelitas?”... O meu caso levantava um problema. A mulher não acreditava na minha história de cegonhas. Ignorava que Israel se situava na rota das aves. Além disso, eu só dispunha de um bilhete de ida. ”Por que motivo passou pela Turquia”, perguntava cada vez mais nervosamente. ”Como planeia ir-se embora?”, inseria-se outra mulher, ali de pé, vinda em reforço da primeira.
Ao cabo de três horas de buscas assíduas e perguntas repetidas, pude passar a alfândega e penetrar no território de Israel. Troquei 500 dólares em shekels e aluguei um carro, um Rover, modelo pequeno. Utilizei uma vez mais as garantias de Bõhm. A recepcionista indicou-me com precisão o itinerário que devia seguir para alcançar Beit She’an e desaconselhou formalmente que me desviasse dele. ”Sabe, é perigoso viajar nos territórios ocupados com matrículas israelitas. As crianças palestinianas atiram logo pedras e agridem”. Agradeci à mulher a sua solicitude e prometi-lhe evitar qualquer desvio.
Lá fora, longe do vento marinho, o calor era sufocante.
O parque de estacionamento flamejava numa luz tórrida. Tudo parecia petrificado na claridade da manhã. Soldados armados, de capacete pesado, farda camuflada, equipados com walkies-talkies e munições, calcorreavam os passeios. -Mostrei o meu contrato de aluguer, atravessei a área de estacionamento e avistei o carro. O volante e os bancos estavam a arder. Fechei os vidros e liguei o ar condicionado. Verifiquei o itinerário num guia redigido em francês. Haifa ficava a oeste, Beit She’an a leste, perto da fronteira jordana: devia então atravessar toda a Galileia, ao longo de uns cem quilómetros. A Galileia... Noutras circunstâncias, um tal nome ter-me-ia mergulhado em longas meditações. Ter-me-ia feito saborear em profundidade o sortilégio destes lugares de lenda, desta terra mítica, berço da Bíblia. Arranquei e tomei a direcção do leste.
Dispunha de dois contactos: Iddo Gabbor, um jovem ornitólogo que tratava as cegonhas aleijadas no kibbutz de Newe-Eitan, perto de Beit She’an, e Yossé Lenfeld, o director da Nature Protection Society, vasto laboratório implantado junto do aeroporto Ben Gurion.
Ao meu redor, a paisagem alternava entre a aridez dos desertos e a hospitalidade artificial de cidades demasiado novas. Por vezes avistava um pastor ao pé dos seus camelos. Na claridade ofuscante, a sua túnica castanha confundia-se com a pelagem do rebanho. Outras vezes, passava por blocos residenciais claros e modernos, que feriam a vista de tanta brancura. Por ora a paisagem não me seduzia. O que mais me espantava era a luz. Desafogada, pura e oscilante, assemelhava-se a um sopro imenso que abrasasse a paisagem, mantendo-a assim a um grau de fusão extraordinário, deslumbrante, fremente.
Por volta do meio-dia parei numa baiuca. Instalado à sombra, bebi chá, comi umas bolachinhas demasiado açucaradas e telefonei várias vezes a Gabbor - sem que me atendessem. Ás treze e trinta, decidi prosseguir o caminho e tentar a minha sorte no próprio local.
Uma hora mais tarde chegava aos kibbutzim de Beit She’an. Três aldeias perfeitamente ordenadas enquadravam vastos campos de cultivo. O meu guia falava abundantemente dos kibbutz, explicando que se tratava de ”colectividades fundadas na propriedade colectiva dos meios de produção e num consumo colectivo, não tendo a remuneração um laço directo com o trabalho”. ”A técnica agrícola do kibbutz”, concluía o capítulo, <é admirada e estudada em todas as partes do mundo devido à sua eficácia”. Rodei um pouco às cegas ao longo das extensões verdejantes.
Por fim, encontrei o kibbutz de Newe-Eitan. Reconheci-o pelos seus fishponds, uns lagos de piscicultura cuja superfície salobra reflectia raios de sol aqui e além. Eram quinze horas.
O calor não diminuía. Penetrei numa aldeia constituída por casas brancas cuidadosamente alinhadas. As ruas eram alegradas por canteiros de flores. Viam-se por detrás das sebes as superfícies azuladas de algumas piscinas. Mas estava tudo deserto. Nem vivalma. Nem sequer um cão a atravessar as ruelas.
Decidi caminhar ao longo dos lagos de piscicultura. Segui por uma estradinha que marginava um vale estreito. Lá em baixo, os lagos desdobravam as suas águas sombrias. Homens e mulheres trabalhavam sob o sol. Desci a pé. Veio ao meu encontro o cheiro amargo e sensual dos peixes, polvilhado pelas fragrâncias cendradas das árvores secas. Um ruído ensurdecedor de motor atroava os céus. Dois homens em cima de um tractor carregavam caixas cheias de peixes.
- Shalom - gritei de sorriso nos lábios. Os homens fixaram-me com os seus olhos claros sem emitir uma palavra. Um deles trazia à cintura um estojo de couro do qual saía a coronha castanha de um revólver. Apresentei-me em inglês e perguntei-lhes se conheciam Iddo Gabbor. Os seus rostos endureceram ainda mais, a mão direita do homem aproximou-se da arma. Nem uma palavra. Expliquei a razão da minha visita, aos berros, de modo a cobrir as trepidações do tractor. Era um amante de cegonhas, percorrera três mil quilómetros para as observar aqui e desejava que Iddo me levasse a vê-las, ao longo dos seus abrigos. Os homens olharam-se, ainda em silêncio.
O homem não armado apontou finalmente o indicador para uma mulher que trabalhava à beira de um lago a duzentos metros dali. Agradeci-lhes e dirigi-me para a silhueta. Senti que o olhar deles me seguia, como o visor de uma arma automática.
Aproximei-me e repeti Shalom. A mulher endireitou-se. Era ainda jovem, aí por volta dos trinta anos. Media mais de um metro e setenta e cinco. A sua silhueta era seca e dura, como uma correia de cabedal enrijecida ao sol. As compridas madeixas louras esvoaçavam-lhe em torno do rosto austero e agudo. Os seus olhos miraram-me, cheios de desprezo e receio. Eu não saberia dizer a cor deles, mas o desenho das sobrancelhas dava-lhes um brilho vibrátil - era o risco do sol no dorso das vagas, a centelha clara da água das bilhas a dessedentar a terra ao longo dos crepúsculos mornos. Calçava botas de borracha e vestia uma T-shirt suja de lama.
- O que pretende? - perguntou em inglês.
Repeti a minha história de cegonhas, de viagem, de Iddo. Bruscamente, pôs-se de novo a trabalhar, sem responder, mergulhando uma pesada rede nas águas escuras. Tinha gestos incipientes, uma ossatura de pássaro que me fez estremecer dos pés à cabeça. Esperei uns instantes, depois insisti: - Que mal lhe fiz? - A mulher empertigou-se e disse, desta vez em francês:
- Iddo morreu.
A rota das cegonhas era a rota do sangue. Deu-me um baque no coração, balbuciei:
- Morreu? Há quanto tempo?
- Há uns quatro meses. As cegonhas estavam de regresso.
- Em que condições?
- Mataram-no. Não quero falar disso.
- Lamento muito. Era mulher dele?
- Irmã.
A jovem curvou-se novamente, seguindo os peixes com a rede. Iddo Gabbor fora assassinado, pouco depois de Rajko. Mais um cadáver. Mais um enigma. E a certeza de que o caminho das cegonhas constituía uma ida sem volta para o inferno.
Observei a israelita: o vento corria-lhe nas madeixas. Desta vez foi ela que parou, perguntando:
- Quer ver as cegonhas?
- Bem... - O meu pedido parecia ridículo no meio de todo este estendal de mortos. - Gostava, sim...
- Iddo tratava as cegonhas.
- Eu sei, por isso é que...
- Chegam ao anoitecer, do outro lado das colinas. Contemplou o horizonte, em seguida murmurou:
- Espere por mim no kibbutz, às seis horas. Levá-lo-ei lá.
- Não conheço o kibbutz.
- junto ao largo há-de ver uma fonte... os birdwatcher,” moram nesse sítio.
- Agradeço-lhe...
- Sarah.
- Obrigado, Sarah. Chamo-me Louis. Louis Antioche.
- Shalom, Louis.
Meti outra vez pela vereda, sob o olhar hostil dos dois homens. Caminhava como um sonâmbulo, cego pelo sol, aturdido pelo anúncio de uma nova morte. No entanto, naquele instante só pensava numa coisa: nas madeixas ensolaradas de Sarah, que corriam no meu sangue como uma queimadura.
O estalido da arma despertou-me em sobressalto; abri os olhos. Adormecera dentro do meu carro, no largo do kibbutz. Em volta, homens à paisana assestavam sobre mim uma autêntica artilharia. Havia colossos de barba preta, louros de faces rosadas. Falavam entre si uma língua oriental, isenta de sonoridades guturais - hebreu - e a maioria deles usava kippa. Deitavam olhares inquisidores para o interior do carro. Berraram em inglês: ”Quem és? O que vens fazer aqui?”. Um dos
1 Em inglês no original: observadores de aves. (X do E.)
2 Kippa é a calota ou solidén, pequeno barrete usado pelos judeus. (N. do T.)
colossos bateu com o punho no vidro e gritou: ”Abre a janela! Passaporte!”. Como se quisesse dar mais ênfase às suas palavras, meteu uma bala no cano da espingarda. Abri lentamente o vidro e passei-lhes o passaporte. O homem arrancou-mo e entregou-o a um dos seus acólitos, sem cessar de me apontar a arma. Os meus papéis circulavam de mão em mão, De súbito ouviu-se uma voz, uma voz de mulher, frágil e dura. O grupo agitou-se. Descortinei Sarah, que abria passagem entre os gigantes. Empurrava-os soltando gritos, injúrias, grunhidos. Pegou no meu passaporte e devolveu-mo logo, sem cessar de invectivar os meus sitiantes. Finalmente, os homens viraram costas, praguejando e arrastando os pés. Sarah voltou-se e disse em francês:
- Andamos todos um bocado nervosos. Há uma semana, quatro árabes mataram três dos nossos num acampamento militar, próximo do kibbutz. Crivaram-nos de golpes de forquilha enquanto eles dormiam. Posso entrar?
Rodámos durante dez minutos. A paisagem oferecia novos lagos de águas negras, sepultos no meio de altas ervas de um verde de arrozal. De repente atingimos a beira de outro vale, e tive de esfregar os olhos para me convencer do espectáculo que se me deparava.
Estendiam-se pauis a perder de vista, inteiramente recobertos de cegonhas. Por todo o lado via-se a brancura das penas e as pontas dos bicos agitando-se, espanejando-se, adejando. Eram dezenas de milhares. As árvores vergavam sob o seu peso. As águas não eram mais do que corpos encharcados, pescoços mergulhados, actividade fervilhante, onde cada ave se alimentava com avidez. As cegonhas chafurdavam de asas abertas, rápidas, precisas, capturando os peixes no seu bico acerado. Não se pareciam com as aves da Alsácia. Eram descarnadas, farruscas. já não cuidavam de alisar as plumas, nem de aprontar com esmero os contornos do ninho. Só uma coisa as preocupava: alcançar África a tempo e horas. No plano científico, eu encontrava-me aqui diante de uma verdadeira exclusividade, pois os ornitólogos europeus sempre me haviam afirmado que as cegonhas nunca pescam, alimentando-se unicamente de carne.
O automóvel começava a patinar nos trilhos. Apeámo-nos. Sarah disse simplesmente:
- O kibbutz das cegonhas. Todos os dias chegam aqui milhares delas. Recobram as forças antes de enfrentar o deserto do Negrieve.
Observei demoradamente as aves com o binóculo. Era impossível dizer se alguma delas tinha anel. Senti uma aragem por cima de nós, ao mesmo tempo ténue e estonteante. Ergui os olhos. Bandos inteiros passavam sem interrupção a baixa altitude. Cada cegonha, como que aureolada de firmamento, seguia a sua trajectória deslizando no ar tórrido. Estávamos no cerne do território das cegonhas. Sentãmo-nos num recôncavo de ervas secas. Sarah cingiu as pernas dobradas com os braços e pousou o queixo nosjoelhos. Era menos bonita do que eu julgara. O seu rosto, demasiado duro, parecia dessecado pelo sol. As maçãs sobressaíam como lascas de pedra. Mas o desenho do seu olhar assemelhava-se a um pássaro que nos afagasse com as asas o fundo do coração.
- O Ido vinha aqui todas as noites. Partia a pé e palmilhava estas lagoas. Recolhia as cegonhas feridas e esgotadas, tratava-as no próprio local ou então levava-as para casa. Arranjara um sítio na garagem. Uma espécie de hospital para as aves.
- Todas as cegonhas passam por esta região?
- Todas, sem excepção. Fazem um desvio na rota para se alimentarem nos fishponds.
- I Ido falou-lhe do desaparecimento das cegonhas na Primavera passada?
Sarah tuteou-me abruptamente:
- Não percebo o que pretendes dizer.
- Este ano, quando regressaram de África, as cegonhas eram menos numerosas do que habitualmente. Ido deve ter reparado em tal fenómeno.
- Não me disse nada.
Perguntava a mim mesmo se Iddo, tal como Rajko, manteria um diário de pesquisa. E se também ele trabalharia para Max Bõhm.
- Falas lindamente francês.
- Os meus pais nasceram no teu país. Não quiseram voltar para França depois da guerra. Foram eles que fundaram os kibbutzim de Beit She’an.
É uma região magnífica.
Depende. Vivi sempre aqui, excepto quando estudei em Telavive. Falo hebreu, francês e inglês. Terminei um mestrado em Física no ano de 1987. Tudo isto para vir parar outra vez a esta choldra, para me levantar às três da madrugada e patinhar em águas fétidas seis dias por semana.
- Queres ir-te embora?
- Com quê, Estamos em sistema comunitário. Aqui, toda a gente ganha a mesma coisa, ou seja, nada.
Ergueu o olhar para as aves que passavam no céu arroxeado, pondo a mão em viseira para se proteger dos últimos fulgores do sol. Sob esta sombra, os seus olhos brilhavam como o reflexo da água no fundo do poço.
- Entre nós, a cegonha pertence a uma antiquíssima tradição. Na Bíblia, jeremias diz para exortar o povo de Israel a partir:
Todos voltam à sua carreira, como um cavalo a acometer em combate.
Mesmo a cegonha no céu Conhece a sua estação,
A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração.
- O que significa isso?
Sarah encolheu os ombros, sem cessar de contemplar as aves: - Significa que também eu aguardo a minha hora.
O jantar foi muito agradável. Sarah tinha-me convidado para passar o serão. Eu já não pensava em nada, deixando-me embalar pela doçura destes momentos inesperados. Comemos no jardim da casa dela, diante dos frisos vermelhos e róseos do crepúsculo. Oferecia-me mais pitas, esses pãezinhos redondos, muito achatados, recheados de imprevistas delícias. Eu aceitava sempre, com a boca cheia. Comia como um odre. O regime alimentar israelita tinha tudo para me seduzir. A carne era muito cara, de modo que se optava por uma alimentação à base de produtos lácteos e legumes. Acima de tudo, Sarah preparara-me chá perfumado, da China, servido em toda a sua pureza.
Sarah tinha vinte e oito anos, ideias violentas e maneiras de fada. Falou-me de Israel. A sua voz meiga contrastava com o seu desamor. Estava-se nas tintas para o grande sonho da Terra Prometida, denunciava os excessos do povo judeu, o seu apego à terra, ao justo direito, que redundava em tantas injustiças e violências num país dilacerado. Descreveu-me os horrores cometidos de ambos os lados: os membros quebrados dos árabes, as crianças hebraicas apunhaladas, os confrontos da Intifada. Traçou assim um estranho retrato de Israel. No seu entender, o Estado hebraico era um autêntico laboratório de guerra: dispunha sempre do avanço de um método de escuta, de uma arma tecnológica ou de um meio de opressão.
Falou-me da sua existência no kibbutz, do duro labor, das refeições tomadas em comunidade, das reuniões de sábado à noite para se deliberar sobre assuntos que ”diziam respeito a todos”. Uma existência absolutamente colectiva, onde cada dia se assemelhava à véspera e mais ainda ao dia seguinte. Referiu os ciúmes, o tédio, a surda hipocrisia da vida comunitária. Sarah estava doente de solidão.
No entanto, também sublinhava a eficácia da agricultura do kibbutz, evocava os avós, esses pioneiros de origem sefardita que haviam fundado as primeiras comunidades depois da Segunda Guerra Mundial. Falava da coragem dos pais, incansáveis no trabalho, do seu fervor, da sua vontade. Nestas alturas, Sarah exprimia-se como se dentro de si a judia lutasse contra a mulher - o ideal contra a individualidade. E as suas compridas mãos esgrimiam no ar da noite para enunciar todas as ideias que ferviam nela.
Mais tarde interrogou-me sobre as minhas actividades, o meu passado, a minha experiência parisiense. Resumi-lhe os longos anos de estudos e expliquei-lhe que me consagrava agora à ornitologia. Contei-lhe a minha viagem e reafirmei o desejo de observar as cegonhas por ocasião da sua passagem por Israel. Esta ideia fixa não a espantava: os kibbutz de Beit She’an constituem um ponto de concentração para inúmeros birdzvatchers, entusiastas por aves vindos dos quatro cantos da Europa e dos Estados Unidos, que se instalam aqui durante o período de migração e passam dias munidos de binóculos, lunetas e teleobjectivas, a observar voos inacessíveis.
Bateram as onze horas. Aventurei-me finalmente a falar da morte de Iddo. Sarah deitou-me um olhar glacial e disse numa voz sem timbre:
- O Iddo foi morto há quatro meses. Assassinaram-no quando tratava as cegonhas nos pauis. Uns árabes surpreenderam-no. Amarraram-no a uma árvore e torturaram-no. Bateram-lhe no rosto com pedras até lhe despedaçarem os maxilares. A garganta ficou cheia de fragmentos de ossos e dentes. Também lhe partiram os dedos e os tornozelos. Despiram-no e retalharam-no com uma máquina de tosquiar carneiros. Quando o corpo foi descoberto, só restava a epiderme do rosto, que se assemelhava a uma máscara mal sobreposta. As entranhas desenrolavam-se até aos pés. As aves já começavam a devorar o corpo.
A noite estava perfeitamente silenciosa.
- Mencionaste uns árabes. Conseguiram apanhar os culpados?
-Julgamos que eram os quatro árabes de que te falei. Os que mataram soldados.
- Estão presos?
- Não, estão mortos. Ajustamos as nossas próprias contas aqui nas nossas terras.
É frequente os árabes atacarem civis?
Não costuma acontecer na nossa região. Ou apenas quando se trata de militantes activos, como os colonos que viste hoje ao entardecer.
- Ido era militante
- Nem por sombras. Todavia, nos últimos tempos mudara bastante. Arranjara armas, espingardas de assalto, armas de punho e, mais curiosamente, silenciadores. Desaparecia com as suas armas durante dias inteiros. já não ia aos pauis. Tornara-se violento, irascível. Exaltava-se de repente ou permanecia silencioso horas a fio.
- O Iddo gostava da vida no kibbutz? Sarah soltou um riso amargo e funesto.
- Iddo não era como eu, Louis. Gostava dos peixes, dos lagos. Gostava dos pauis, das cegonhas. Gostava de regressar à noite, negro de lama, para se fechar no seu local de tratamentos com algumas aves desemplumadas. - Riiu-se outra vez, sem alegria. - Mas ainda gostava mais de mim. E procurava uma maneira de nos tirar deste maldito inferno.
Fez uma pausa e encolheu os ombros; depois começou a levantar os pratos e os talheres.
- No fundo - prosseguiu -, acho que o Iddo nunca teria saído daqui. Sentia-se profundamente feliz. O céu, as cegonhas, e a seguir eu. Ele via-se como a última força do kibbutz: tinha-me na mão.
- O que pretendes dizer?
- Aquilo que disse: tinha-me na mão.
Encaminhou-se para o interior da casa com os braços carregados. Ajudei-a na lida. Enquanto ela concluía as arrumações na cozinha, dei alguns passos no compartimento principal. A casa de Sarah era pequena e branca. Segundo podia ver, havia este grande compartimento e dois quartos ao longo de um corredor - o dela e o de Iddo. Em cima de um móvel vi o retrato de umjovem de ombros largos. O rosto dele era enérgico, tisnado pelo sol, e a sua fisionomia respirava saúde e doçura. Iddo parecia-se com Sarah: o mesmo desenho das sobrancelhas, as mesmas maçãs do rosto, mas ao passo que na irmã tudo era apenas magreza e tensão, Iddo irradiava antes de tudo vitalidade. Na imagem, Iddo parecia mais novo do que Sarah, talvez vinte e dois ou vinte e três anos.
Sarah saiu da cozinha. Voltámos para o terraço. Abriu uma caixinha de ferro que acabava de trazer.
- Fumas?
- Cigarros?
- Não, erva.
- De modo nenhum.
- Não me admira, és um tipo estranho, Louis.
- Mas não te coíbas por minha causa, se te apetece...
- Só vale a pena quando é partilhado - decretou ela fechando a caixa...
Calou-se e encarou-me por breves instantes.
- Agora, Louis, vais explicar-me o que fazes realmente aqui. Não tens pinta de birdwatcher. Conheço-os bem. São uns fanáticos por aves e não falam de outra coisa, e vivem de olhos postos no céu. Tu não percebes nada do assunto, salvo em matéria de cegonhas. E tens o olhar de um fulano que tanto persegue como é perseguido. Quem és tu, Louis? Um polícia? Um jornalista? Aqui, desconfiamos dos goyim’. - Baixou a voz:
Mas estou decidida a ajudar-te. Diz-me o que procuras. Reflecti durante uns momentos e por fim contei-lhe tudo sem hesitar. Não tinha nada a perder... Aliviava-me abrir assim o coração. Revelei a curiosa missão que Max Bõhm me confiara pouco tempo antes de morrer. Falei-lhe das cegonhas, dessa demanda tão pura ao sabor do vento e do céu mas que descambara subitamente em pesadelo. Descrevi-lhe as minhas
Goyim: os não-judeus, os gentios. (N do T.)
últimas quarenta e oito horas na Bulgária. Disse-lhe como Rajko Nicolitch morrera. Como haviam sido mortos Marcel, Yéta e sem dúvida uma criança. Em seguida, como degolara um desconhecido com um caco de vidro ao fundo de um entreposto. Repeti a minha intenção de caçar o outro patife e os seus mandantes. Falei finalmente do Mundo Único, de Dumaz, de Djuric, de Joro. O bisturi de alta frequência, o roubo do coração de Rajko, o misterioso transplante de Max Bõhm, tudo se misturava no meu espírito.
- Pode parecer-te esquisito - concluí -, mas estou persuadido de que as cegonhas detêm a chave de todo este caso. Desde o início que pressinto que Bõhm possuía outra razão para querer encontrar as suas cegonhas. E os assassinatos balizam, quilómetro após quilómetro, a rota das aves.
- A morte do meu irmão está relacionada com essa história?
- Talvez. Precisava de saber um pouco mais para te dar uma resposta.
- O processo ficou entregue ao Shin-bet. Não tens a mínima hipótese de o ver.
- E os que descobriram o corpo?
- Nada te dirão.
- Desculpa, Sarah, mas viste o corpo?
- Não.
- Sabes... - hesitei momentaneamente - _sabes se faltava algum órgão?
- O quê?
- O interior do tórax estava intacto?
O rosto de Sarah ensombreceu.
- A maior parte das entranhas tinham sido devoradas pelas aves. É tudo o que sei. Descobriram o cadáver de madrugada. Mais exactamente, no dia 16 de Maio.
Levantei-me e dei uns passos no jardim. A morte de Iddo era certamente um novo fio da meada, um furo acima no terror - mas, mais do que nunca, só via escuridão à minha volta. A escuridão absoluta.
- Não compreendo nada do que dizes, Louis, mas posso contar-te umas coisas.
Tornei a sentar-me e tirei o meu canhenho do bolso interior.
- Em primeiro lugar, o Iddo apurara algo. Não sei o que era, mas afirmou-me várias vezes que íamos ficar ricos, que íamos partir para a Europa. A princípio não prestei atenção ao seu delírio. Pensei que ele inventava aquilo para me alegrar,
- De quando datam essas afirmações?
- Do início de Março, creio. Uma noite entrou aqui completamente excitado. Tomou-me nos braços e disse-me que podia fazer as malas. Cuspi-lhe na cara. Não gosto que façam troça de mim.
- Donde vinha ele?
Encolheu os ombros: - Dos pauis, como sempre.
- Ele deixou algum papel, alguma nota?
- Não mexi em nada no cantinho dele, ao fundo dojardim. Outra coisa: a organização Mundo único está presente na região. Colaboram com as Nações Unídas e trabalham nos campos de refugiados palestinianos.
- Que funções desempenham lá?
- Tratam as crianças árabes, distribuem víveres, medicamentos. Diz-se muito bem desta organização aqui em Israel. É uma das raras que merece elogios de toda a gente.
Anotei os dados que me fornecera. Sarah olhou de novo para mim, inclinando a cabeça.
- Louis. Por que fazes tudo isto? Por que Dão prevines a polícia?
- Que polícia? De que país? E por que crime? Não tenho qualquer prova. Aliás, hájá um polícia metido no inquérito: Hervé Dumaz. Um polícia muito singular, cujas verdadeiras motivações ainda não percebi. No terreno, porém, estou sozinho, Sozinho e determinado.
De repente, Sarah pegou-me nas mãos, sem me dar tempo a evitar este gesto. Não senti nada. Nem relutância, nem apreensão. Assim como não experimentei a doçura dos seus dedos nas minhas extremidades mortas. Desenrolou as ligaduras e seguiu com os dedos as minhas longas cicatrizes. Bailou-lhe nos lábios um estranho sorriso, mesclado de uma intensa perversidade, depois deitou-me um olhar muito demorado, como se o insinuasse sob os nossos pensamentos e significasse que estava encerrado o tempo das palavras.
Estávamos envoltos em sombra, mas tudo adquiriu subitamente uma feição solar. Foi algo de rude, brutal, intransigente. Os nossos movimentos retesaram-se. Os nossos beijos alongaram-se, tortuosos, apaixonados. O corpo de Sarah fazia lembrar o de um moço. Nenhuns seios, pouco de ancas. Músculos compridos, tensos como cabos. As nossas bocas quedavam-se mudas, concentradas no seu próprio sopro. Visitei com a língua os quatro cantos da sua pele, nunca me servindo das mãos, agora mais do que nunca letras mortas. Rastejei, rodei, avancei em espiral, até atingir o centro dela ardente como uma cratera. Sarah retorceu-se como uma chama. Rugiu numa voz surda e arrepanhou-me os ombros. Mantive-me de ferro, guindado na minha posição. Sarah bateu-me no torso e acentuou o movimento das nossas ancas. Estávamos nas antípodas da doçura ou do apego. Dois animais solitários, unidos por um beijo de morte. Choques. Nervos. Ausências. Falésias onde se esfolam os dedos. Beijos que se matam mutuamente. Entre dois pestanejos, vislumbrei as suas madeixas louras encharcadas de suor, as dobras dos lençóis sulcados pelos seus dedos, as torções das veias que lhe empolavam a pele. De súbito Sarah sussurrou algo em hebreu. Um estertor surgiu-lhe da garganta, depois um vulcão gelado jorrou do meu ventre. Ficámos assim, imóveis. Como que encegueirados pela noite, estupefactos pela violência do acto. Não houvera prazer na partilha, Tão-somente o alívio isolado, bestial e egoísta de dois seres em contenda com a sua própria carne. Não senti amargura alguma perante este vazio. A nossa guerra dos sentidos iria sem dúvida temperar-se e suavizar-se e tornar-se por fim ”dois em um”. Mas era necessário esperar. Esta noite. Porventura uma outra noite. Então o amor volver-se-ia prazer.
Passou uma hora. Apareceram os primeiros alvores da madrugada. A voz de Sarah elevou-se:
- As tuas mãos, Louis. Conta-me.
Podia acaso mentir a Sarah depois do que acabava de acontecer? Os nossos rostos estavam mergulhados na sombra, e pela primeira vez na vida era-me possível narrar essa tragédia sem receio nem pudor.
- Nasci em África. No Níger, no Mali, não sei bem... Os meus pais partiram para o continente negro nos anos cinquenta. O meu pai era médico. Tratava as populações negras. Em
1963, Paul e Marthe Antioche instalaram-se na República Centro-Africana, um dos países mais remotos do continente africano, e aí prosseguiram incansavelmente a sua obra. O meu irmão mais velho e eu continuámos a crescer, repartindo o tempo entre o ar condicionado das aulas e o calor da selva. Nessa época, a RCA era dirigida por David Dacko, que recebera o poder das próprias mãos de André Malratix no meio do regozijo popular. A situação não era admirável, nem tão-pouco catastrófica. O povo deste país não desejava de modo nenhum uma mudança de governo. No entanto, em 1965 um homem resolveu que tudo devia mudar: o coronel Jean-Bedel Bokassa. Nessa altura não passa de um militar obscuro, mas é o único graduado da República Centro-Africana e pertence à família do presidente, de etnia mhaka. Muito naturalmente, confiam-lhe o comando do exército, constituído por um pequeno batalhão de infantaria. Arvorado em chefe de estado-maior general do exército centro-africano, Bokassa não cessa de subtrair o poder. Por ocasião dos desfiles oficiais, atropela tudo e todos, caminha logo atrás de Dacko, ultrapassa os ministros entesando o peito atapetado de medalhas. Apregoa por toda a parte que a autoridade lhe pertence de direito, que é mais velho do que o presidente. Ninguém desconfia, pois subestima-se a sua inteligência. Pensa-se que ele não é mais do que um bêbedo mentecapto e invejoso. Todavia, Bokassa decide agir em finais de 1965, ajudado pelo tenente Banza, com o qual misturou o sangue para fortalecer a amizade entre os dois. Na véspera do Ano Novo, precisamente. No dia 31 de Dezembro, às quinze horas, reúne o batalhão, umas centenas de homens, e explica-lhes que está previsto um exército de combate para essa mesma tarde. O espanto percorre as fileiras: uma tal manobra, pouco antes da noite de São Silvestre, afigura-se bizarra. Bokassa não tolera o mínimo reparo. Às dezanove horas, as tropas do acampamento Kassai dispõem-se em formatura. Alguns homens descobrem que as caixas de munições contêm balas reais e pedem explicações. Banza aponta-lhes uma pistola à cabeça e ordena-lhes que se calem. Todos se preparam. Em Bangui, a festa começa, Imagina a cena, Sarah. Naquela cidade erigida sobre terra vermelha, mal iluminada, cheia de edifícios fantasmagóricos, a música começa a ressoar, o álcool a correr. Na gendarmaria, os aliados do presidente não suspeitam de nada. Dançam, bebem, divertem-se. Às vinte horas e trinta, Bokassa e Banza atraem o chefe desta brigada, Henri Izamo, a uma cilada. O homem dirige-se sozinho ao acampamento de Roux, outro ponto estratégico. Bokassa acolhe-o cheio de atenções, conta-lhe o seu projecto de golpe. Treme de excitação, Izamo não compreende, e depois desata repentinamente a rir. Acto contínuo, Banza dá-lhe com o sabre na nuca. Os dois cúmplices algemam-no e em seguida arrastam-no para uma cave. A febre sobe. Agora é preciso encontrar David Dacko. A coluna militar põe-se em marcha: quarenta veículos cor de camuflagem, a abarrotar de soldados esgazeados que só então começam a perceber. à frente deste desfile macabro pavoneiam-se Bokassa e Banza num Pigeot 404 branco. Nessa noite chove sobre a terra sanguínea. Uma chuva leve, de estação, a que se chama ”chuva das mangas” porque se julga que ela faz medrar estes frutos de polpa açucarada. Na estrada, os camiões cruzam-se com o major Sana, outro aliado de Dacko, que acompanha os pais a casa. Sana fica boquiaberto: ”Desta vez”, murmura, ”é o golpe de estado”. Chegados ao palácio da Renascença, os soldados procuram em vão o presidente. Dacko não dá sinal de si. Bokassa inquieta-se. Cheio de nervosismo, corre, berra, manda verificar se há subterrâneos, esconderijos. O plano volta ao princípio. Desta feita, as tropas repartem-se por diferentes pontos estratégicos: a rádio de Bangui, a prisão, as residências dos ministros... Na cidade reina o caos total. Os homens e as mulheres, alegres e com um grão na asa, ouvem os primeiros tiros. Sobrevém o pânico. Toda a gente procura refúgio. As ruas principais estão bloqueadas, tombam os primeiros mortos. Bokassa enlouquece, agride os prisioneiros, descompõe os seus homens e mantém-se prostrado no acampamento de Roux. Morre de medo. Tudo pode ainda alterar-se. Não prendeu Dacko, nem os conselheiros mais perigosos. O presidente, porém, não desconfia de nada. Ao regressar a Bangui, cerca da uma hora da madrugada, cruza-se ao quilómetro 17 com os primeiros grupos desnorteados que lhe anunciam o golpe de estado e a sua própria morte. Meia hora mais tarde é preso. Ao vê-lo chegar, Bokassa lança-se nos seus braços e beija-o, dizendo-lhe: ”já te prevenira, era preciso acabar com isto”. Uma pequena tropa volta a partir, em direcção à penitenciária de Ngaragba. Bokassa acorda o director, que o acolhe de granadas em punho, julgando tratar-se de um ataque de congoleses. Bokassa ordena-lhe que abra as portas da prisão e liberte todos os prisioneiros, O homem recusa. Banza assesta então a sua arma e o director enxerga Dacko ao fundo do carro, com uma espingarda encostada à cabeça. ”É um golpe de estado”, murmura Bokassa. ”Necessito desta libertação para a minha popularidade. Entendes?”. O director obedece. Os ladrões, os escroques e os assassinos espalham-se pela cidade clamando: ”Glória a Bokassa!”. Entre eles há um bando de facínoras muito perigosos. Homens da etnia kara, que deviam ser executados poucos dias depois. Matadores sequiosos de sangue. São eles que batem à nossa porta, na avenida de França, cerca das duas horas da madrugada. O intendente da nossa propriedade vem abrir estremunhado, de espingarda na mão. Aqueles loucos já partiram a porta. Dominam Mohamed e apoderam-se da sua arma.
Os karas despem-no e deitam-no ao chão. Quebram-lhe o nariz, os maxilares e as costelas à paulada e à coronhada. Azzora, a sua mulher, acorre e depara com a cena. Os filhos juntam-se-lhe. Ela afasta-os. Quando o corpo de Mohamed se abate numa poça, os homens encarniçam-se sobre ele, a golpes de picareta e machado. Nem uma só vez Mohamed gritou. Nem uma só vez suplicou. Aproveitando-se deste frenesim, Azzora tenta esquivar-se com as crianças, A família refugia-se numa conduta de cimento meia-imersa. Um dos homens, o que guardou a espingarda para si, persegue-os até ao fundo. Os tiros mal ecoam dentro do cano cheio de água. Quando o assassino sai de lá, o sangue e a chuva misturam-se no seu rosto alucinado. São precisos alguns segundos para ver afluir na água negra os corpos pequenitos e o bubu’ de Azzora, que estava grávida. Há quanto tempo observa o meu pai a cena? Precipita-se para o interior da casa e carrega a sua espingarda, uma Mauser de grande calibre. Posta-se atrás de umajanela e aguarda que os assaltantes apareçam. A minha mãe acordou e subiu a escada dos nossos quartos, com a cabeça estonteada pelo champanhe da passagem de ano. Mas a casa já está a arder. Os homens penetraram pelas traseiras, saqueando cada compartimento, derrubando móveis e candeeiros e provocando o incêndio na sua loucura. Não há uma versão definitiva sobre o massacre da minha família. julga-se que o meu pai foi abatido com a sua própria espingarda, à queima-roupa. A minha mãe deve ter sido agredida no alto da escada. Mataram-na decerto à machadada, a poucos passos do nosso quarto. Encontraram no meio das cinzas os seus membros esparsos e calcinados. Quanto ao meu irmão, dois anos mais velho que eu, pereceu nas chamas, prisioneiro do seu mosquiteiro crepitante. A maioria dos assaltantes também esturraram, surpreendidos pelo fogo que haviam deflagrado. Não sei por que milagre sobrevivi. Corri debaixo da chuva, com as mãos em chamas, berrando, tropeçando, até desmaiar à porta da embaixada de França onde
Bubu: grande blusa flutuante usada em certas zonas de África. (N. do T)
viviam uns amigos dos meus pais, a Nelly e o Georges Braesler. Quando me viram e se aperceberam do horror do genocídio, compreenderam que o coronel Bokassa tomara o poder. Não tardaram a seguir para o pequeno aeroporto de Bangui, onde embarcaram num biplano pertencente ao exército francês. Descolámos no meio da trovoada, deixando a República Centro-Africana entregue à loucura de um só homem. Durante os dias seguintes falou-se pouco deste ”incidente”. O governo francês sentia um certo mal-estar perante a nova situação. Apanhados desprevenidos, os franceses acabaram por reconhecer o novo dirigente. Organizaram-se processos sobre as vítimas da noite de São Silvestre. Deu-se uma avultada indemnização ao pequeno Louis Antioche. Por seu lado, os Braesler revolveram céu e terra para que se fizesse justiça. Mas de quejustiça se tratava? Os assassinos estavam mortos e o principal responsável tornara-se entretanto chefe de Estado da República Centro-Africana.
As minhas palavras ficaram suspensas no silêncio do alvorecer. Sarah murmurou:
- Que desgraça!
- Não fiques triste, Sarah. Eu tinha seis anos de idade. Não guardo qualquer recordação de tudo isto, É uma longa página branca na minha existência. De resto, quem se recorda dos seus cinco primeiros anos de vida? Tudo o que sei, ouvi-o dos Braesler.
Os nossos corpos enlaçaram-se novamente. Rósea, vermelha, violácea, a aurora dulcificou a nossa violência e raiva. A fruição não veio, uma vez mais. Calámo-nos. As palavras nada podem em prol dos corpos.
Mais tarde, Sarah sentou-se na minha frente, em toda a sua nudez, e pegou-me nas mãos. Observou as mais ínfimas costuras, seguindo com o dedo os ferimentos ainda purpúreos sofridos no entreposto de vidro.
- Doem-te as mãos?
- Não. Pelo contrário, são completamente insensíveis. Acariciava-as sem descanso,
- És o meu primeiro goy, Louis.
- Posso converter-me.
Sarah encolheu os ombros. Sondava as minhas palmas,
- Não, não podes.
- Umas tesouradas no sítio certo e...
- Não podes ser cidadão de Israel.
- Porquê?
Sarah largou-me as mãos com um ar desgostoso e depois olhou pela janela.
- Não és ninguém, Louis, Não tens impressões digitais.
Na manhã seguinte acordei tarde. Esforcei-me por abrir os olhos e concentrei-me no quarto de Sarah, nas paredes de pedra branca pintalgadas de sol, na pequena cómoda de madeira, no retrato de Einstein a deitar a língua de fora, e no de Hawking na sua cadeira de rodas, pregados na parede com tachas. Livros de bolso, empilhados no chão. Um quarto de jovem solitária.
Olhei para o meu relógio: onze e vinte, 4 de Setembro. Sarah abalara para os fishponds. Levantei-me e tomei um duche. Examinei demoradamente o meu rosto no espelho suspenso por cima do lavatório. As minhas feições tinham-se encovado. A testa luzia de um brilho mate, e os olhos sob as pálpebras preguiçosas entremostravam a sua cor clara. Talvez não passasse de uma impressão, mas pareceu-me que o meu rosto envelhecera - e que adquirira uma expressão cruel. Em poucos minutos barbeei-me e vesti-me.
Na cozinha, entalada sob uma caixa de chá, encontrei uma mensagem de Sarah:
Louis, Os peixes não esperam. Estarei de volta aofim do dia.
Chá, telefone, máquina de lavar.- Podes servir-te de tudo.
Tem cautela contigo e espera por mim. Desejo-te um bom-dia, meu pequeno goy. Sarah.
Fiz chá e bebi os primeiros goles à janela, contemplando a Terra Prometida. A paisagem oferecia aqui uma curiosa mistura de aridez e fertilidade, de áreas secas e extensões verdejantes. Sob a luz intensa, as faces cintilantes dos fishponds rompiam a terra.
Peguei na chaleira e instalei-me lá fora, sob o caramanchão. Puxei o fio do telefone na minha direcção e marquei o número do meu atendedor. A ligação era má, mas distingui as mensagens. Dumaz, sério e grave, queria saber notícias. Wagner, impaciente, pedia-me que lhe telefonasse. A terceira chamada era mais pasmosa: tratava-se da Nelly Braesler. Inquietava-se por minha causa: ”Louis, meu pequenino, é a Nelly. Fiquei muito preocupada depois de falar consigo. Afinal, o que anda a fazer? Telefone-me”.
Marquei o número de Hervé Dumaz. Esquadra de Montreux. Nove da manhã, hora local. Depois de várias tentativas, consegui a ligação e passaram-me o inspector.
- Dumaz? Fala Antioche.
- Até que enfim! Onde está? Istambul?
- Não pude parar na Turquia. Estou em Israel. Posso falar-lhe?
- Com certeza...
- O que eu pergunto é se está alguém a escutar a nossa conversa.
Dumaz emitiu um dos seus risínhos ténues: - Que aconteceu?
- Tentaram matar-me.
Senti que Dumaz caía das nuvens.
- O quê?
- Dois homens. Na gare de Sófia, há quatro dias. Estavam armados de espingardas de assalto e óculos de infravermelhos.
- Como é que lhes escapou?
- Por milagre. Mas morreram três inocentes. Dumaz mantinha-se silencioso. Acrescentei:
- Matei um dos assassinos, Hervé. Fui de carro para Istambul, depois cheguei a Israel num ferry.
- Afinal, o que descobriu?
- Não faço ideia. Mas as cegonhas estão no centro deste caso. Primeiro Rajko Nicolitch, o ornitólogo morto em circunstâncias selváticas. Em seguida, tentam eliminar-me quando investigo sobre as aves. E agora uma terceira vítima. Acabo de saber que, um ornitólogo israelíta foi abatido há quatro meses. Este homicídio pertence à mesma série, não tenho a mínima dúvida, Iddo descobrira qualquer coisa, tal como Rajko.
- Quem eram os assassinos que o atacaram?
- Talvez os dois búlgaros que interrogaram Joro Grybinski em Abril passado.
- O que vai fazer?
- Continuar.
Dumaz atarantou-se: - Continuar! É melhor prevenir a polícia israelita, entrar em contacto com a Interpol!
- Nem por sombras. Aqui, o assassinato de Iddo é um caso arquivado. Em Sófia, a morte de Rajko passou despercebida. A de Marcel dará mais que falar porque ele era francês. Mas tudo isto se inscreve no caos geral. Nenhuma prova, factos díspares, é demasiado cedo para avisar as instâncias internacionais. A minha única possibilidade é avançar sozinho,
O inspector suspirou: - Está armado?
- Não. Mas aqui, em Israel, não é difícil arranjar material desse género.
Dumaz não tugia nem mugia - ouvia-lhe a respiração precipitada.
- E você, tem novidades?
- Nada de consistente. Vou aprofundando a história de Bõhm. Por enquanto, só veio um laço: as minas de diamantes.
Primeiro na África do Sul, depois na RCA, Indago como posso. Nos outros planos não obtive nenhum resultado.
- O que encontrou sobre o Mundo único?
- Nada. O Mundo único é irrepreensível. A sua gestão é transparente, as suas actividades são eficazes e reconhecidas.
- Donde vem essa organização
- O Mundo único foi fundado no final dos anos setenta por Pierre Doisneau, um médico francês estabelecido em Calcutá, no Norte da índia. Ocupava-se dos deserdados, das crianças doentes, dos leprosos... Criou uma estrutura: montou dispensários, situados ao longo dos passeios, que adquiriram uma importância considerável. Começou-se a falar de Doisneau. A sua reputação atravessou as fronteiras. Uns médicos ocidentais foram ajudá-lo, houve quem lhe enviasse fundos, de modo que milhares de homens e mulheres puderam assim ser tratados.
- E depois?
- Mais tarde, Pierre Doisneau criou o Mundo único e logo a seguir fundou um Clube dos 1001, composto por aproximadamente mil membros: empresas, personalidades, etc., que contribuíram cada qual com dez mil dólares. O conjunto desta soma, mais de dez milhões de dólares, foi posto a render ganhos importantes todos os anos.
- Qual é o interesse da manobra?
- Estes rendimentos bastam para financiar os serviços administrativos do Mundo Único. Sendo assim, a organização pode assegurar aos seus doadores que o dinheiro deles beneficia directamente os deserdados e não uma sede luxuosa. Uma tal transparência desempenhou um grande papel no êxito do MU. Hoje em dia existem centros de cuidados médicos distribuídos por todo o planeta. O Mundo único gere um autêntico exército humanitário. Constitui uma referência neste domínio.
A ligação foi perturbada por ruídos.
- É capaz de me obter a lista desses centros no mundo?
- É claro que sim, mas não vejo...
- E a lista dos membros do Clube’
- Vai por caminho errado, Louis. Pierre Doisneau é uma celebridade. Não ficou longe do Prémio Nobel da Paz no ano passado e...
- Pode arranjar-me o que lhe pedi ou não?
- Tentarei.
Nova rajada de interferências.
- Conto consigo, Hervé. Volto a falar-lhe amanhã ou depois de amanhã.
- Para onde posso ligar-lhe?
- Eu telefono.
Dumaz parecia confuso. Tornei a pegar no auscultador e marquei o número de Wagner. O alemão folgou por ouvir a minha voz.
- Onde está? - exclamou.
- Em Israel,
- Muito bem, Viu as nossas cegonhas?
- Espero-as aqui. Estou na encruzilhada da rota delas, em Beit She’an.
- Nos fishponds?
- Exactamente.
- Viu-as na Bulgária e no estreito do Bósforo?
- Não tenho a certeza. Vi alguns voos sobre o estreito. Um espectáculo fantástico. Ulrich, não posso prolongar muito a chamada. Há novas localizações?
- Tenho-as aqui ao pé.
- Diga lá.
- O mais importante é o grupo da dianteira. Passaram ontem por Damasco e encaminharam-se para Beit She’an. julgo que poderá vê-las amanhã.
Deu-me logo as localizações. Anotei-as no meu mapa.
- E as do Oeste?
- As do Oeste? Um momento... As mais rápidas atravessam agora o Saara. Chegarão em breve ao Mali, no delta do Níger.
Anotei igualmente estas informações.
- Muito bem - concluí. - Telefono-lhe dentro de dois dias.
- Onde está, Louis? Talvez pudéssemos enviar-lhe um fax: começámos umas estatísticas e...
- Tenho muita pena, Ulrich, mas aqui não há fax.
- Acho a sua voz muito esquisita. Corre tudo bem?
- Corre, sim, Ulrich. Gostei muito de o ouvir.
Por fim, liguei para Yossé Lenfeld, o director da Nature Protection Society. Yossé falava inglês com um sotaque áspero e gritava tão alto que o meu auscultador vibrava. Pressenti que o ornitólogo era mais um ”espécime”. Combinámos um encontro: no dia seguinte de manhã, no aeroporto Ben Gurion, às oito e trinta.
Levantei-me, comi uns pitas na cozinha e fui espiolhar o cantinho de Iddo, no jardim, Não deixara nenhuma nota, nenhuma estatística, nenhuma informação - só instrumentos e ligaduras do género das que eu já desencantara em casa de Bõhm.
Em compensação, descobri a máquina de lavar. Enquanto o tambor girava com toda a minha roupa, prossegui calmamente a minha pequena pesquisa. Não encontrei mais nada, excepto outras velhas ligaduras, ainda com penas coladas. Estava longe de ser um dia fecundo. Por ora, no entanto, eu só tinha um desejo: voltar a ver Sarah.
Uma hora mais tarde, estendia eu a roupa ao sol quando ela surgiu entre duas camisas.
- O trabalho já acabou?
Como única resposta, Sarah piscou-me o olho e deu-me o braço.
Pela janela, via o dia declinar lentamente. Sarah afastou-se de mim. O suor escorria-lhe pelo torso. Olhava fixamente para a ventoinha, que rodava no tecto besoirado.
O corpo dela era comprido e firme, a pele escura, queimada, dessecada. A cada movimento, os músculos rolavam-lhe como animais acossados, prontos para o ataque.
- Queres chá?
- Sim, ia saber-me muito bem - respondi.
Levantou-se e foi preparar a infusão. As suas pernas eram ligeiramente arqueadas. Senti uma nova excitação. O meu desejo por Sarah não se extinguia. Duas horas de amplexos não tinham bastado para me apaziguar. Não se tratava de fruição nem de prazer, mas de uma alquimia dos corpos atraídos e atiçados, como que destinados a arder um pelo outro. Até à consumação dos séculos.
Sarah voltou com uma estreita bandeja de cobre que suportava uma chaleira de metal, chávenas pequenas e biscoitos. Sentou-se na borda da cama e serviu-nos à oriental - erguendo a chaleira muito acima de cada chávena.
- Louis - disse ela -, tenho estado a pensar. Acho que andas equivocado.
- O que pretendes dizer?
- As aves, a migração, os ornitólogos. Trata-se de assassinatos. E ninguém mata por causa de meia dúzia de aves.
já tinha ouvido isto antes. Retorqui:
- Sarah, o único vínculo com tudo o resto são as cegonhas. Ignoro aonde as aves me levarão. Também ignoro por que motivo esta rota se encontra assinalada por mortos. Mas tanta violência sem fronteiras deve ter uma lógica.
- Há dinheiro em jogo. Um tráfico entre todos esses países.
- Certamente - respondi. - Max Bõhm dedicava-se a um comércio ilícito.
- Qual?
- Ainda não sei. Diamantes, marfim, ouro? Em todo o caso, são riquezas africanas. Dumaz, o inspector suíço que trabalha neste inquérito, está convencido de que se trata de pedras preciosas. julgo que ele tem razão. Bõhm não podia traficar marfim, pois insurgiu-se violentamente contra o massacre de elefantes na RCA. Quanto ao ouro, não abunda na rota das cegonhas. Restam os diamantes, na República Centro-Africana, na África do Sul... Max Bõhm era engenheiro e trabalhou neste domínio. Mas o mistério mantém-se intacto. O suíço reformou-se em 1977. Nunca mais pôs os pés em África. já não se ocupava senão de cegonhas. Sinceramente, Sarah, não sei.
Sarah acendeu um cigarro e encolheu os ombros:
- Estou certa de que tens uma ideia.
Sorri: - É verdade. Penso que o tráfico continua e que as cegonhas são correios. Mensageiros, se quiseres. Do género dos pombos-correios. Transportam as mensagens nos anéis.
- Que anéis?
- Na Europa, os ornitólogos fixam anéis nas patas das aves, indicando a data de nascimento, a proveniência, ou então a data e o lugar da captura no caso de aves selvagens. julgo que os anéis das cegonhas de Bõhm contam outra coisa...
- O quê?
- Qualquer coisa suficientemente valiosa para se matar por ela. Rajko descobrira-o. O teu irmão também, quer-me parecer. Iddo até deve ter decifrado o significado das mensagens. E daí a sua excitação e a esperança de fortuna.
Perpassou um clarão pelos olhos de Sarah. Expeliu uma nova baforada, mas não disse nada. Por breves instantes, pensei que ela me esquecera completamente. Em seguida levantou-se.
- Louis, por enquanto os teus problemas não residem no céu. É preferível que olhes para a terra. Se continuas a sonhar assim, ainda acabam por te liquidar como a um chacal.
Vestiu os jeans e a T-shirt.
- Anda comigo.
Lá fora o sol já se retirava. As colinas no horizonte vibravam sob a brandura do ar. Sarah atravessou oJardim e parou a meio caminho entre a casa e as dependências. Arredou ramos de oliveira e varreu o pó. Apareceu um oleado. Agarrou-o e disse-me: - Ajuda-me. - Puxámos a cobertura; havia um alçapão. Durante o dia eu devia ter posto ali os pés uma dezena de vezes. Sarah ergueu a tábua e deixou à vista um verdadeiro arsenal. Espingardas de assalto, armas de punho, caixas de munições. - A reserva da família Gabbor - disse ela. - Tivemos sempre armas, mas o Iddo trouxe mais algumas. Espingardas de assalto munidas de silenciador. - Ajoelhou-se e extraiu um saco de golfe poeirento. Pegou nele, sacudiu-o e enfiou lá dentro armas e munições. - Vamos! - ordenou.
Metemo-nos no meu carro e atravessámos os fishponds. Meia hora mais tarde chegávamos a um deserto eriçado de rochas negras e arbustos famélicos. Lixo e detritos aos milhares fustigavam-nos as pernas, eflúvios nauseabundos flutuavam no vento. Estávamos na montureira dos kibbutz. Um estalido fez-me voltar a cabeça. Sarah ajoelhara-se. Verificava as armas estendidas na sua frente.
Sorriu e começou a explicar:
- Estas duas espingardas de assalto são armas israelitas. Espingarda-metralhadora Uzi, espingarda-metralhadora GaliL Uns autênticos clássicos. Não há melhor material no mundo. Suplantam as Kalachmkov e outras M16. - Tirou uma caixa de munições e apoderou-se de vários cartuchos longos e acerados. - Estas espingardas são de calibre 22, tal como as espingardas de caça tradicionais de calibre 22 e cano comprido. Salvo que as balas contêm mais pólvora e estão revestidas de aço. - Introduziu na Galil um carregador em forma de banana e exibiu-me a parte lateral da arma. - Aqui, tens duas posições: normal e automático. Em posição automática, podes disparar cinquenta balas em poucos segundos. Fingiu varrer o espaço com uma rajada, depois pousou a Uzi.
- Vejamos as pistolas. Os dois monstros que aqui vês são os maiores calibres automáticos existentes em todo o mundo: Mag-num 357 e Mag-num 44. - Pegou na pistola prateada e engrenou um carregador na coronha revestida de marfim. A arma era quase tão comprida como o seu antebraço. - A 44 dispara dezasseis tiros Mag-num. É a arma de punho mais poderosa. Com ela, fazes parar um carro lançado a cem quilómetros à hora. - Alongou o braço e visou um ponto imaginário, sem a mínima dificuldade; a sua força física espantava-me. - O problema é que isto está sempre a encravar. As outras, como vês, são muito mais manejáveis. A Beretta de 9 numm é a pistola automática da maior parte dos polícias norte-americanos. Ejectou o carregador de uma arma preta, de proporções impecáveis, que parecia adequar-se perfeitamente à mão. - Esta pistola italiana ultrapassou por lá a famosa Smith & Wesson 38. É uma referência. Precisa, leve, rápida. A 38 dispara seis tiros, a Beretta dezasseis. - BeJou a coronha. - Uma verdadeira companheira de armas. Mas eis as melhores: a Glock 17 e a Glock 21, de origem austríaca. As armas do futuro, que tendem mesmo a ultrapassar as Beretta. - Empunhou uma pistola que se assemelhava à Beretta, mas numa versão atamancada, mal acabada. - Tem 70% de polímeros na sua composição. Um milagre de leveza. - Deu-ma para eu a sopesar: não era mais pesada que um punhado de penas. - Um visor fosforescente, para disparar de noite, um gatilho que garante absoluta segurança, um carregador de dezasseis balas. Os estetas criticam-na por não ser muito bela. Para mim, no entanto, este ”brinquedo” é o melhor que se fez até hoje. A Glock 17 dispara 9 num parabeIlum, e a 21 dispara 45 mm. A 21 é menos precisa, mas com este género de balas derruba-se o adversário, onde quer que ele seja atingido.
Estendeu-me um punhado de balas. Pesadas, acaçapadas, ameaçadoras.
- Estas duas Glock são minhas. Dou-te a 21. Tem cuidado.
O gatilho foi especialmente regulado para o meu indicador. É demasiado dúctil para ti.
Olhei para a arma, incrédulo, depois encarei a israelita:
- Como sabes tudo isso, Sarah?
Novo sorriso: - Estamos em guerra, Louis. Nunca o esqueças. Em caso de alerta, nos fishponds cada um de nós dispõe de vinte minutos para se dirigir a um ponto de concentração secreto. Todos os trabalhadores do kibbutz são combatentes virtuais. Mantemo-nos treinados, mentalizados, sempre prontos para combater. No início do ano os Scud ainda assobiavam por cima das nossas cabeças. - Pegou na 9 mm, colou a arma ao ouvido e introduziu uma bala no cano. - Mas não há motivo para me olhares assim de olhos esbugalhados: neste momento, estás sem dúvida em maior perigo do que Israel em peso.
Cerrei os dentes, agarrei na Glock e perguntei:
- Os assassinos que me atacaram na Bulgária dispunham de armas sofisticadas. Uma espingarda de assalto, uma mira laser, amplificadores de luz... O que achas?
- Nada. O material de que falas não tem nada de sofisticado. Todos os exércitos dos países desenvolvidos possuem esse género de equipamento.
- Queres dizer que os dois atacantes podiam ser soldados à paisana
- Soldados, ou então mercenários.
Sarah afastou-se através do solo poeirento para ir colocar bastante longe uns alvos de acaso, pedaços de plástico presos nos arbustos, bidões de ferro assentes em raízes. Voltou curvada contra o vento e ensinou-me os rudimentos do tiro.
- Pernas firmes - disse -, braço direito esticado, indicador posto lateralmente ao longo do cano. Diriges o olhar para o entalhe do visor. A cada tiro disparado, acompanhas o coice com o punho, da frente para trás. Nunca de baixo para cima, como serás naturalmente levado a fazer. Caso contrário, a extremidade traseira do cano tocará no teu punho. E acabarás assim por encravar a arma. Entendido, meu pequeno goy?
Disse que sim e pus-me em posição, copiando os meus gestos pelos de Sarah. - OK., Sarah. Estou pronto. - Ela esticou ambas as mãos, enclavinhadas na arma, ergueu o cão, esperou uns segundos e berrou: - Agora!
O fragor começou. Sarah era uma atiradora incomparável. Eu próprio acertava nos alvos. O silêncio voltou, impregnado de cheiro a cordite. Trinta e dois tiros haviam esbraseado o ar da tardinha.
- Recarregar! - gritou Sarah. Os carregadores vazios ejectaram-se em uníssono e recomeçámos. Nova rajada. Novo metal em fogo. - Recarregar! - repetiu ela. Tudo se acelerou: as balas metidas na mola do carregador, o estalido da culatra a armar-se, o visor colocado no entalhe. Um, dois, três, quatro carregadores esvaziaram-se assim. As cápsulas saltavam-nos para a cara. Eu já não ouvia nada. A minha Glock fumegava e percebi que ela ardia - mas as minhas mãos insensíveis permitiam-me disparar- à vontade, sem receio do calor.
- Recarregar! - berrava Sarah. Cada sensação transformava-se num gozo surdo. A arma a bater, a saltar, a ricochetear na mão. O barulho a troar, ao mesmo tempo curto, nítido e ensurdecedor. O fogo, azulado, compacto, cheio de fino acre. E devastação, aterradora, irreal, provocada pelas nossas armas dezenas de metros dali. - Recarregar! - Sarah trepidava de alto a baixo. Escapavam-lhe balas das mãos. O seu horizonte não passava já de um campo assolado. Senti de repente um tremendo impulso de ternura pela jovem. Baixei a minha arma e caminhei para ela. Pareceu-me mais sozinha do que nunca, ébria de violência, perdida no meio do fumo e dos invólucros vazios.
Então, subitamente, três cegonhas passaram lá no alto. Vi-as, claras e belas à luz do entardecer. E compreendi. Ela meteu logo um carregador, introduziu a bala na culatra e assestou a Glock na direcção do céu. Ecoaram três detonações, seguidas de um completo silêncio. Vi, como que em câmara lenta, as aves despedaçadas a flutuarem no céu e depois a despenharem-se ao longe com uns pequenos ploc discretos e tristes. Fitei Sarah, sem conseguir falar. Ela retribuiu-me o olhar e desatou a rir, atirando a cabeça para trás. Um riso demasiado forte, demasiado grave, demasiado assustador.
- Os anéis! - Corri na direcção das aves mortas. Descobri os corpos cem metros adiante. A areia já lhes sugara o sangue. Examinei as patas. Não traziam anéis. Eram ainda e sempre as mesmas aves anónimas. Quando regressei em passos vagarosos, Sarah estava encolhida sobre si mesma, chorando e gemendo como um rochedo de mágoa na areia do deserto.
Tornámos a fazer amor nessa noite. As nossas mãos cheiravam a pólvora e havia em nós uma sanha patética na busca do prazer. Então, nas profundezas da noite, brotou a fruição, soerguendo-nos como uma onda cega, num estrondo de vaga em que os nossos sentidos se perderam e aniquilaram.
No dia seguinte levantámo-nos às três da madrugada, Tomámos o chá sem dizer uma palavra. Lá fora ouviam-se os passos pesados dos kibbutzniks. Sarah recusou que eu a levasse de automóvel até aosfishponds. Ajovemjudia não podia mostrar-se sem mais nem menos com um goy. Beijei-a e tomei o caminho oposto, em direcção ao aeroporto Ben Gurion.
Tinha de percorrer cerca de trezentos quilómetros. Rodei a toda a velocidade através do dia que nascia. Nas imediações de Naplusa deparou-se-me a outra realidade de Israel. Uma barreira militar obrigou-me a parar. Passaporte. Interrogatório. A poucos centímetros das espingardas de assalto, expliquei de novo a razão da minha viagem. Cegonhas? O que significa isso?”. Tive de responder a outras perguntas dentro de um casebre mal iluminado. Os soldados estavam sonolentos sob os capacetes e os coletes de protecção. Lançavam entre si umas olhadelas incrédulas. Acabei por sacar das fotografias de Bõhm e mostrei-lhes as aves brancas e pretas. Os soldados desataram a rir. Também me ri. Ofereceram-me chá. Bebi-o, rapidamente e voltei logo a partir, sentindo um suor gelado nas costas.
Ás oito da manhã penetrei nos vastos entrepostos do aeroporto Ben Guríon, onde estavam instalados os laboratórios de Yossé Lenfeld. Ele já esperava por mim, impaciente, andando de um lado para o outro em frente da porta de chapa ondulada.
O ornitólogo, director da Nature Protection Society, era um fenómeno. Mais um. Mas por muito alto que Yossé Lenfeld falasse de certo para cobrir o estrépito dos aviões que passavam acima das nossas cabeças), ou usasse um inglês abrupto pronunciado a uma velocidade alucinante, ou trouxesse a kippa de esguelha na cabeça e arvorasse uns Ray-Ban de manda-chuva, a mim não me impressionava. já nada me impressionava. Aos meus olhos, este homenzinho de cabelo grisalho, concentrado nas suas ideias como um malabarista nos seus objectos, devia antes de tudo responder às minhas perguntas - eu fizera-me passar por jornalista. Ponto final.
YÔssé começou por explicar-me o problema ”ornitológico” de Israel. Todos os anos, quinze milhões de aves migratórias, de duzentas e oitenta espécies diferentes, passavam sobre o país, transformando o céu num lugar de tráfego fervilhante. Nos últimos anos tinham sobrevindo numerosos acidentes entre as aves e os aviões civis ou militares. Haviam morrido vários pilotos, ficando alguns aviões totalmente destruídos. O custo dos estragos por cada acidente era avaliado em quinhentos mil dólares. A LAF (Israel Air Force) decidira tomar medidas e recorrera a ele em 1986. YÔssé dispunha hoje de meios ilimitados para organizar um ”QG antiaves e possibilitar que o tráfego aéreo retomasse a sua cadência sem riscos.
A visita principiou por uma célula de vigilância instalada na torre de controlo do aeroporto civil. Ao lado dos radares tradicionais, duas soldadas vigiavam outro radar especializado na migração das aves. Neste ecrã, desdobravam-se regularmente longas vagas de aves. - É aqui que se evita o pior explicou YÔssé. - Em caso de voo imprevisto, podemos obviar à catástrofe. Estas passagens de aves adquirem por vezes dimensões incríveis. - Lenfeld debruçou-se sobre um computador, tamborilou no teclado e fez aparecer um mapa de Israel onde se viam distintamente imensos grupos de aves a cobrir todo o território hebraico.
- Que aves? - perguntei.
- Cegonhas - respondeu Lenfeld. - De Beit She’an ao Negueve, podem atravessar Israel em menos de seis horas. Por outro lado, as pistas do aeroporto são dotadas de recintos que reproduzem o grito de certas aves predadoras a fim de se evitar qualquer concentração por cima dos terrenos. Na pior das hipóteses, possuímos aves de rapina amestradas, a nossa ”brigada de choque”, que podemos largar como recurso extremo.
Enquanto falava, Lenfeld ia andando. Atravessámos as pistas de aterragem, por entre o ronco dos reactores, curvados sob as asas gigantes. YÔssé prodigava-me as explicações, oscilando entre o catastrofismo e o requintado orgulho de ser o ”primeiro, país, a seguir ao Panamá, no tocante à questão da passagem de aves migratórias”.
Regressámos aos laboratórios. Lenfeld abriu uma porta de metal servindo-se de um cartão magnético. Penetrámos numa espécie de jaula de vidro munida de uma consola informática e sobranceira a uma ampla oficina aeronáutica.
- Recriamos aqui as exactas condições dos acidentes explicou ele. - Projectamos corpos de aves contra os nossos protótipos a uma velocidade que ultrapassa os mil quilómetros por hora. Analisamos em seguida os pontos de impacto, as resistências, os rasgões.
- Com aves?
Lenfeld soltou uma gargalhada na sua voz de granito:
- Frangos, senhor Antioche. Frangos de supermercado! A sala seguinte estava cheia de computadores, cujos ecrãs exibiam colunas de algarismos, mapas quadriculados, curvas e gráficos.
- Eis o nosso departamento de pesquisa - comentou o ornitólogo. - Determinamos aqui as trajectórias de cada espécie de aves. Integramos os milhares de observações e notas tomadas pelos birdwatchers. Em troca destas informações, oferecemos-lhes regalias: o alojamento durante a sua permanência, a autorização para observar as aves em certos sítios estratégicos...
Estes dados interessavam-me.
- Sabe então onde passam precisamente as cegonhas ao sobrevoarem Israel?
YÔssé abriu-se num sorriso e levou-me para junto de um computador disponível. O mapa de Israel surgiu outra vez e desenharam-se itinerários a ponteado. Relativamente apertados, cruzavam-se todos por sobre a localidade de Beit She’an.
- Para cada espécie, temos as trajectórias e as datas de passagem anual. Tanto quanto possível, os nossos aviões evitam estes corredores. Aqui, a vermelho, vêem-se as principais rotas das cegonhas. Verificamos que elas passam todas, sem excepção, por Beit She’an. São os...
- Eu conheço Beit She’an. Pode garantir-me que estes itinerários são imutáveis?
- Absolutamente - respondeu Lenfeld sempre aos berros. - O que vê ali é a síntese de centenas de observações realizadas nos últimos cinco anos.
- Dispõe de dados quantitativos, de estatísticas sobre o número de aves?
- É claro que sim. Quatrocentas e cinquenta mil cegonhas passam todos os anos por Israel na Primavera e no Outono. Sabemos o ritmo a que tal acontece. Conhecemos com exactidão os seus hábitos. Temos as datas precisas, os períodos de concentração, as médias, tudo. As cegonhas são regidas como relógios.
Interessa-se pelas cegonhas guarnecidas de anéis que vêm da Europa?
- Não especialmente. Porquê?
- Parece que algumas cegonhas com anéis faltaram à chamada na Primavera passada.
Yossé Lenfeld perscrutava-me por trás dos seus Ray-Ban, Apesar das lentes fumadas, eu adivinhava o seu olhar incrédulo. Disse simplesmente:
- Não sabia, mas sobre o número... Está com um ar um pouco transtornado, meu velho. Venha. Vamos tomar um refresco.
Segui-o através de um dédalo de corredores. A climatização estava glacial. Chegámosjunto de um distribuidor de bebidas. Escolhi uma água mineral gasosa e a frescura das bolhas proporcionou-me uma sensação benéfica. Depois a visita continuou.
Entrámos num laboratório biológico onde se viam por todo o lado estruturas de metal, provetas e microscópios. Os investigadores usavam aqui batas brancas e pareciam trabalhar nalguma guerra bacteriológica. YÔssé elucidou-me:
- Estamos no cérebro do programa. Estudamos, nos seus mais pequenos pormenores, os acidentes de avião e as respectivas consequências nos nossos equipamentos militares. Os destroços são trazidos para esta sala e são esmiuçados ao microscópio até se observar a mínima pena, o mais pequeno vestígio de sangue, para se determinar a velocidade do impacto, violência do choque. Procede-se aqui à estimativa dos perigos concebem-se as verdadeiras medidas de segurança. Talvez não acredite, mas este laboratório é um departamento genuíno do nosso exército. De um certo ponto de vista, as aves migratórias são inimigas da causa israelita.
- Depois da guerra das pedras, a guerra das aves? Yossé Lenfeld desatou a rir:
- É isso mesmo! Só posso mostrar-lhe uma parte das nossas pesquisas. O resto é ”Segredo de Defesa”. Mas tenho aqui uma coisa que há-de interessar-lhe.
Entrámos num pequeno estúdio de vídeo atolado de magnetoscópios e monitores de alta definição. Lenfeld meteu uma cassete no leitor. Surgiu no ecrã um piloto do exército israelita com um capacete na cabeça e a viseira descida. No fundo não se via senão a boca do homem. Dizia em inglês: ”Senti uma explosão, algo de muito potente bateu-me no ombro. Ao cabo de uns segundos de desmaio, recuperei os sentidos. Mas não conseguia ver nada. O meu capacete estava completamente coberto de sangue e pedaços de carne...”.
Lenfeld comentou:
- É um dos nossos pilotos. Entrou em colisão com uma cegonha, há dois anos, em pleno voo. Foi em Março, as cegonhas; regressavam à Europa. Teve uma sorte incrível: a ave embateu nele de chapa, o cockpit explodiu. Apesar de tudo, pôde aterrar. Foram necessárias várias horas para lhe tirar do rosto os vidros quebrados e as penas de ave.
- Por que motivo aparece de capacete no ecrã?
- Porque a identidade dos pilotos da IAF deve permanecer secreta.
- Quer dizer que não posso falar com este homem?
- Não. Mas tenho algo de melhor para lhe oferecer. Saímos do estúdio. Lenfeld pegou num auscultador que estava enganchado na parede, marcou um código e em seguida falou em hebraico. Quase instantaneamente, surgiu um homenzinho com cara de rã, de pálpebras pesadas que desciam de rompante sobre os olhos proeminentes.
- Shalom Wilm - disse Yossé apresentando-mo. - É o responsável por todos os trabalhos de análise efectuados neste laboratório. Encarregou-se pessoalmente das investigações sobre o acidente que acabo de lhe referir.
Lenfeld explicou em inglês a Wilm as razões da minha visita. O homem sorriu-me e convidou-me a acompanhá-lo até ao seu gabinete. Achei esquisito um pormenor: pediu a Yossé que nos deixasse a sós.
Fui atrás de Wilm. Novos corredores. Novas portas. Penetrámos finalmente num pequeno esconso, verdadeiro cofre-forte cuja porta metálica se abria com uma combinação.
- É aqui o seu gabinete? - espantei-me.
- Menti a Yossé. Queria mostrar-lhe uma coisa.
Fechou a porta e acendeu a luz. Observou-me demoradamente, com gravidade.
- Não o imaginava assim.
- Não entendo.
- Esperava por si, desde esse acidente em 1989.
- Esperava por mim?
- Você ou outro. Esperava por um visitante particularmente interessado nas cegonhas que regressam à Europa.
Silêncio. O sangue latejava-me nas têmporas. Disse numa voz surda:
- Explique-se melhor.
Wilm começou a vasculhar no esconso, verdadeiro cafarnaum de metal, amostras de fibras sintéticas e outras matérias. Pôs à mostra uma portinha à altura de um homem e depois compôs uma combinação.
- Ao analisar as diferentes peças do avião sinistrado, efectuei uma estranha descoberta. Compreendi que este achado não era um acaso, que estava ligado a outra história, muito mais vasta, da qual você é sem dúvida um dos elos.
Abriu a portinha, mergulhou a cabeça no cofre mural e continuou, com uma voz que ressoava como no fundo de uma caverna:
- A minha intuição segreda-me que posso confiar em si. Libertou-se do cofre. Tinha na mão dois saquinhos transparentes.
- Além disso, estou ansioso por me desembaraçar deste fardo - acrescentou.
Perdi o sangue-frio: - Não percebo nada. Explíque-se! Wilm respondeu com calma: - Quando rebuscámos no interior do cockpit do avião sinistrado, bem como no equipamento do aviador, designadamente no seu capacete, pudemos recolher diferentes partículas entre os restos da colisão. juntámos, por exemplo, os detritos de vidro do cockpit.
Pousou em cima da mesa um dos saquinhos, encimado por um rótulo escrito em hebraico. Continha minúsculos fragmentos de vidro fumado.
- Reunimos igualmente os vestígios da viseira do capacete.
- Pousou um novo saquinho onde se viam desta vez uns detritos mais claros. - O piloto foi um felizardo em sobreviver.
Wilm conservava agora a mão fechada.
- Mas quando estudei estes últimos resíduos ao microscópio, descobri outra coisa. - Mantinha os dedos fechados. Algo cuja presença era totalmente extraordinária.
Numa golfada de adrenalina, compreendi subitamente o que Wilm ia dizer-me. No entanto, urrei:
- O quê, santo Deus?
Shalom abriu devagarinho a mão e murmurou:
- Um diamante.
Saí dos laboratórios de Lenfeld completamente extenuado. Assim, as revelações de Shalom Wilm conduziam-me em linha recta ao ponto aonde a minha imaginação recusara aventurar-se até então.
Max Bõhm era um traficante de diamantes, as cegonhas constituíam os seus correios.
A sua estratégia era excepcional, assombrosa, implacável. Eu sabia o bastante para a imaginar com precisão. Segundo as informações de Dumaz, o velho Max trabalhara por duas vezes na área dos diamantes - de 1969 a 1972 na África do Sul, e de
1972 a 1977 na República Centro-Africana. Paralelamente, estudara e observara a migração das cegonhas que traçavam um laço aéreo com a Europa. Em que momento lhe ocorrera a ideia de utilizar estas aves como portadoras? Mistério, mas quando Bõhm deixara a RCA em 1977, a sua rede já estava organizada - pelo menos no Ocidente. Bastava-lhe possuir alguns cúmplices na República Centro-Africana que se apoderassem dos mais belos diamantes, sem o conhecimento dos dirigentes das explorações diamantíferas, e depois os fixassem nas patas das cegonhas guarnecidas de anéis, no final do Inverno. As pedras ”volatilizavam-se” e atravessavam as fronteiras.
Em seguida, era simples para Bõhm recuperar os diamantes. Tinha os números dos anéis e conhecia o ninho de cada cegonha, através da Suíça, da Bélgica, dos Países Baixos, da Polónia ou da Alemanha. Partia então à cata: a pretexto de pôr
anéis nas crias, anestesiava os adultos e apossava-se das pedras preciosas.
O sistema comportava algumas falhas: os acidentes das cegonhas provocavam perdas mas, atendendo à quantidade várias centenas de aves todos os anos -, os ganhos eram colossais, e os riscos de alguém descobrir eram quase nulos. A ornitologia era uma cobertura perfeita. Além do mais, ao longo dos anos Bõhm desenvolvera sem dúvida as suas ”tropas” de aves, seleccionando as mais sólidas, as mais experimentadas. Precaução suplementar: contratara sentinelas na rota das cegonhas para se assegurarem de que a migração decorria conforme o previsto. Assim, durante mais de dez anos o tráfico desenrolara-se sem problemas, tanto a Leste como a Oeste.
Outras verdades adquiriam corpo no meu espírito. Levando em conta o seu carregamento de excepção - milhões de francos suíços a cada migração -, era lógico que Bõhm tivesse perdido o sangue-frio ao ver que as cegonhas do Leste não voltavam na Primavera. Resolvera primeiro que tudo enviar os dois búlgaros para o itinerário das aves, mandando-os interrogar joro Grybinski, julgado inofensivo, e depois Iddo, que era um suspeito mais verosímil e que eles mataram e abandonaram junto dos pauis.
Segundo as revelações de Sarah, era claro que o jovem ornitólogo descobrira o tráfico. Uma noite, ao tratar uma das cegonhas de Bõhm, devia ter surpreendido o conteúdo de um dos seus anéis: um diamante. Compreendera então o sistema e sonhara com a fortuna. Arranjara espingardas de assalto e em seguida, durante noites a fio, abatera nos pauis as cegonhas guarnecidas de anéis e guardara os diamantes. Assim, na Primavera de 1991, Iddo entrara na posse do carregamento de diamantes das aves. Desde logo, havia duas hipóteses: ou Iddo falara sob tortura e os búlgaros haviam recuperado os diamantes, ou calara-se e o ”tesouro” estava escondido algures. Eu pendia para esta versão. De outro modo, por que motivo me enviaria Max Bõhm no rastro das cegonhas?
Mas a revelação das aves não esclarecia tudo. Desde quando
existia o tráfico? Quem eram os cúmplices de Max Bõhm em África? Que papel desempenhava o Mundo único nesta rede? E, sobretudo, qual era a relação entre o caso dos diamantes e o atroz extirpamento do coração de Rajko? Os dois búlgaros também teriam matado Rajko? Seriam eles os cirurgiões exímios a que Milan Djuric aludira? Aquém destas perguntas, subsistia uma interrogação que me dizia directamente respeito: o que levara Max Bõhm a escolher-me para realizar o inquérito? Porquê eu?, se nada sabia de cegonhas, se não pertencia à rede e que, ainda por cima, podia vir a descobrir o tráfico?
Seguia a toda a velocidade a caminho de Beit Slie’an. Transpus os desertos dos territórios ocupados cerca das dezanove horas. Discerni ao longe os acampamentos militares, cujas luzes piscavam no alto das colinas. Nas imediações de Naplusa, uma barreira militar fez-me parar novamente. O diamante que Wilm me dera ia escondido no fundo do meu bolso, num papel dobrado. Dissimulara a Glock 21 por baixo do tapete do carro. Repeti uma vez mais o meu discurso sobre as aves. Enfim, lá me deixaram passar.
Às vinte e duas cheguei a Beit She’an. Os perfumes da sombra tinham-se levantado, alimentando essa compaixão estranha que reina sob os crepúsculos quando os lampejos do dia se extinguem. Arrumei o carro e encaminhei-me para a casa de Sarah. As luzes estavam apagadas. Quando bati, a porta abriu-se sozinha. Puxei da minha Glock e introduzi uma bala no cano - os reflexos do tiro adquirem-se depressa; penetrei no compartimento central mas não encontrei ninguém. Corri para ojardim, ergui o oleado que tapava o alçapão e retirei a tábua: uma Galil e a Glock 17 haviam desaparecido. Sarah partira. À sua maneira. Armada como um soldado em marcha. Ligeira como uma ave nocturna.
Acordei às três da madrugada, como na véspera. Era o dia 6 de Setembro. Deixara-me cair no leito de Sarah e dormira vestido. O kibbutz animava-se. Saí para a noite púrpura e juntei-me aos homens e às mulheres que abalavam para os fzshponds, tentando interrogá-los a propósito de Sarah. As minhas perguntas só me valeram olhadelas hostis e respostas vagas.
Orientei-me para os birdwatchers. Levantavam-se muito cedo para surpreender as aves ao despertar. Às quatro horas já verificavam o material, ajonJando-se de filmes e víveres para o dia. Arrisquei umas perguntas em inglês nos degraus das portas abertas. Após várias tentativas, um jovem holandês reconheceu a minha descrição de Sarah. Garantiu-me que vira a jovem na véspera, por volta das oito da manhã, nas ruas de Newe-Eitan. Subia para um autocarro, o 133, na direcção para oeste, para Netanya. Um pormenor chamara-lhe a atenção: a rapariga levava um saco de golfe.
Alguns segundos mais tarde já eu acelerava para oeste. Às cinco horas podia-se ver a claridade a inundar as planícies da Galileia. Parei numa estação de serviço perto de Cesareia para encher o depósito. Bebi um chá preto enquanto folheava o meu guia à procura de informações sobre Netanya, o destino de Sarah. Aquilo que li quase me fez largar a chávena a escaldar: ”Netanya. População: 107200 habitantes. Esta estância balnear, célebre pelas suas belas praias de areia e sossego, é também um grande centro industrial especializado na lapidação de diamantes. No bairro da rua Herz1 pode-se assistir às operações de talhe e polimento...”.
Tornei a arrancar, fazendo ranger os pneus. Sarah desvendara o segredo. Devia mesmo estar na posse de diamantes.
Às nove horas, Netanya apareceu no horizonte, uma grande urbe clara, anichada à beira do mar. Segui a rota costeira que consistia numa sucessão de hotéis e clínicas, e compreendi a verdadeira natureza de Netanya. Por detrás do seu aspecto de estância balnear, a cidade era um refúgio de velhos ricos que descansavam dourando-se ao sol. Silhuetas hesitantes, rostos ressequidos, mãos trémulas. Em que pensariam todos estes anciãos? Na suajuventude, nos múltiplos Yom Kippur’ que ano após ano haviam pautado o seu destino de exilados? Nas repetidas guerras, nos horrores dos campos de concentração, nesta luta incoercível para ganharem a sua própria terra? Netanya, em Israel, era a derradeira morada dos vivos - o cemitério das recordações.
A estrada não tardou a abrir-se à direita para o Atzma’ut Square, donde partia a rua HerzI, feudo dos diamantistas. Estacionei o carro e subi a pé. Ao cabo de uma centena de metros entrei num bairro mais denso onde reinava uma atmosfera de suk’, efervescente, ruidosa e perfumada. Na sombra das ruelas, assomavam aquí e além os raios da manhã que procuravam insinuar-se sob os mostradores dos lojistas, sob as portadas cerradas das casas. Os cheiros de frutos misturavam-se com os dos suores e das especiarias, os ombros abalroavam-se num vaivém incessante e precipitado. As kippas, como outros tantos sóis negros, sobressaíam ao longo da multidão.
Alagado em suor, não me era possível despir o casaco que escondia a Glock 21, enfiada num coldre de velcro cedido por Sarah. Pensei na jovem judia que passara por ali umas horas antes, levando consigo diamantes e armas das mais modernas. Ao virar para a rua Smilasky, encontrei o que procurava: os artífices diamantistas.
As locandas encavalitavam-se umas nas outras por entre um odor a poeira. O arrastado estridor incisivo dos tornos zumbia.
O artesanato conservara aqui todos os seus direitos. Diante de cada porta via-se um homem sentado, paciente e concentrado.
1 Yom Kippur palavras hebraicas que significam
2 Suk: palavra árabe que significa «mercado.(N. do T.)
Comecei a interrogar logo na primeira loja: ”Viu uma jovem alta e loura? Propôs-lhe a compra de diamantes em bruto, de grande valor? Pediu-lhe que avaliasse essas pedras para saber o preço de venda?”. Ouvia sempre a mesma negativa, o mesmo olhar incrédulo por detrás dos óculos bifocais ou da lupa monocular. A hostilidade do bairro ia-se tornando palpável. Os diamantistas não apreciam as perguntas. Nem as histórias. O seu papel inicia-se com o brilho das pedras. Pouco importa o que se passou antes, ou em redor do objecto. Ao meio-dia e meia já dera a volta ao bairro e não recolhera a mínima informação. Mais umas locandas e a minha visita chegaria ao fim. À uma menos um quarto fiz uma última vez as minhas perguntas a um velhote que falava um francês perfeito. Suspendeu o movimento do torno e inquiriu: ”Umajovem com um saco de golfe?”.
Sarah estivera ali na véspera ao fim da tarde. Pousara um diamante sobre a banca e perguntara: ”Quanto?”. Isaac Knicklevitz observara a pedra à luz, sondando os seus reflexos sobre uma folha de papel e depois à lupa de aumentar. Comparara-a com outros diamantes e obtivera a certeza de que este diamante era uma obra-prima em matéria de brancura e pureza.
O velho oferecera um preço. Sarah aceitara, sem negociar. Isaac esvaziara o seu cofre e efectuara assim, segundo confessava, um excelente negócio. Todavia, não se iludia. Sabia que este ajuste era apenas uma primeira etapa da aventura. Dizia ele que uma tal pedra, vendida sem certificado, só podia trazer aborrecimentos. Sabia que um homem como eu, ou outro, mais oficial, acabaria por lhe bater à porta. Também sabia que talvez se visse obrigado a restituir a pedra - a menos que tivesse tempo de a lapidar.
Isaac era um homem idoso, com perfil de águia e cabelo cortado à escovinha. O crânio quadrado e os ombros largos davam-lhe o ar de um quadro cubista. Acabou por levantar-se não completamente, pois a locanda era tão baixa que eu próprio estava todo curvado desde o início da conversa - e sugeriu-me que fôssemos almoçar. Isaac queria sem dúvida inteirar-me de um bom número de coisas mais. E Sarah já devia ir longe. Enxuguei o rosto e segui o diamantista através do dédalo de ruelas.
Atingimos em breve uma praceta abrigada por um espesso caramanchão. Sob este tecto de frescura estendiam-se as mesinhas de um restaurante. A toda a volta, o bulício de um mercado. Ouviam-se gritos de vendedores atrás dos seus balcões enquanto os transeuntes se acotovelavam. Ao longo das paredes de adobe verdes-claras, como que engastadas na sombra, agitava-se toda a espécie de lojas, rodeando aquele coração formigante de uma coroa ainda mais viva. Isaac abriu passagem no meio da barafunda e instalou-se a uma mesa. Agoniei-me com um cheiro a sangue que vinha ali de muito perto à nossa direita. No meio de capoeiras fétidas e de uma chuva de penas, um homem cortava metodicamente o pescoço de centenas de galinhas. O vermelho corria ajorros. Ao pé do talhante, um rabino gigantesco, todo vestido de preto, resmoneava inclinando-se sem descanso, com a Tora na mão. Isaac sorriu:
- Não parece muito familiarizado com o mundo judaico, meu rapaz. A palavra kosher diz-lhe alguma coisa? Toda a nossa comida é abençoada desta maneira. Bom, conte-me antes a sua história.
Fiz das tripas coração:
- Isaac, não lhe posso dizer nada. A mulher que veio aqui ontem está em perigo. Eu próprio estou em perigo. Toda esta história não é mais do que uma imensa ameaça para quem dela se aproxima. Confie em mim, responda às minhas perguntas e mantenha-se afastado de tudo isto.
- Ama aquela moça?
- Eu não começaria aí, Isaac. Mas digamos que sim, amo aquela rapariga. Perdidamente. Não é errado afirmar que toda esta intriga é uma história de amor, cheia de caos, sentimento e violência. Agrada-lhe que seja assim?
Isaac sorriu outra vez e encomendou em hebraico o prato do dia. Quanto a mim, o cheiro da criação tirara-me o apetite. Pedi um chá.
O lapidário volveu: - Em que posso ser-lhe útil? Fale-me do diamante da rapariga.
É uma pedra sumptuosa. Não muito grande, alguns quilates no máximo, mas de uma pureza e de uma brancura excepcionais. O valor de um diamante estabelece-se de acordo com quatro critérios invariáveis: o peso, a pureza, a cor e a forma. O diamante da sua amiga é perfeitamente incolor e de uma pureza sem mácula. Nem a mais ínfima inclusão, nada. Um milagre.
- Se pensa que a origem dele é suspeita, por que o comprou?
O rosto de Isaac iluminou-se:
- Porque é o meu ofício: sou lapidário. Há mais de quarenta anos que talho, clivo e dou polimento a pedras. Aquela de que estamos a falar constitui um autêntico desafio para um homem como eu. O papel do lapidário é essencial na beleza de um diamante. Um mau talhe deita tudo a perder e aniquila o tesouro. Pelo contrário, um talhe bem sucedido pode magnificar a pedra, enriquecê-la, sublimá-la. Quando vi o diamante, compreendi que o céu me propiciava um ensejo único de realizar uma obra-prima.
- Quanto vale uma pedra dessa qualidade antes de ser lapidada?
Isaac ficou aborrecido: - Não é uma questão de dinheiro. Responda-me: preciso de avaliar esse diamante.
É difícil dizer. Cinco a dez mil dólares americanos, talvez...
Imaginei as cegonhas de Bõhm a sulcar o céu, transportando o precioso carregamento. Regressavam todos os anos à Europa e pousavam nos seus ninhos, sobre o alto dos telhados da Alemanha, da Bélgica, da Suíça. Milhões de dólares a cada Primavera.
- Faz alguma ideia da origem de um tal diamante?
- Todos os anos, nas Bolsas, os mais belos diamantes brutos desfilam dentro de papelinhos dobrados. Ninguém sabe dizer donde vêm. Ou até se são extraídos da terra ou da água. Um diamante é perfeitamente anónimo.
- Uma pedra dessa qualidade é rara. Conhecem-se as minas capazes de produzir tais diamantes?
- É verdade. Mas hoje os filões multiplicaram-se. Há, bem entendido, a África do Sul e a África Central. Mas também Angola, a Rússia, que são actualmente muito ”férteis”.
- Depois de extraídas, onde se pode vender pedras assim em bruto?
- Num único lugar em todo o mundo: em Antuérpia. Tudo o que não passa pela De Beers, ou seja 20 a 30% do mercado, vende-se nas Bolsas de diamantes de Antuérpia.
- Disse a mesma coisa à rapariga?
- Absolutamente.
A minha Alice ia então a caminho de Antuérpia. O prato do dia chegou: bolinhas de favas fritas, acompanhadas de puré de grão e temperadas com azeite. Isaac, plácido entre todos, atacou os seus pitas.
Observei-o por instantes. Parecia disposto a esclarecer todas as minhas dúvidas sem impor em paga qualquer condição. Eu não lia nada no seu olhar oblíquo a não ser paciência e atenção. Percebi quejá nada podia surpreendê-lo. A sua experiência de diamantista era um autêntico túnel das danaides. Vira desfilar tantas cabeças exaltadas, tantas almas perdidas ou seres alucinados do meu género...
- Como é que as coisas se passam em Antuérpia?
- É muito impressionante, pois essas Bolsas não estão menos protegidas do que o Pentágono. Sentímo-nos ali observados de todos os lados por câmaras invisíveis. Ninguém repara em cores políticas ou em rivalidade. Só conta a qualidade das pedras.
- Quais são os principais obstáculos à venda de tais diamantes? É possível imaginar um tráfico, uma teia?
Isaac esboçou um sorriso irónico:
- Uma teia? Sim, sem sombra de dúvida. Mas o mundo do diamante bruto está à margem de tudo, senhor Antioche.
É certamente a fortaleza melhor protegida no mundo. A oferta e a procura são ali absolutamente regulamentadas pela De Beers. Estabeleceram-se estruturas de compra, selecção e armazenamento e instaurou-se um sistema de venda única para a maioria dos diamantes do mundo. O papel deste sistema consiste em distribuir a intervalos regulares uma determinada quantidade de pedras. Em abrir e fechar, se assim posso dizer, a torneira dos diamantes à escala do mundo, a fim de evitar as flutuações incontroláveis.
- Quer dizer que é impossível um tráfico de pedras brutas
que a De Beers domina a difusão de todos os diamantes?
- Há sempre as pedras que se vendem em Antuérpia. Mas
seu termo, ”teia”, faz-me sorrir. A chegada regular de peças muito belas desestabilizaria o mercado e seria logo assinalada.
Tirei a minha folha de papel dobrado da algibeira e deixei escorregar o diamante de Wilm para a mão:
- Peças como esta?
Isaac limpou a boca, baixou os óculos e aproximou o seu olhar perito. À nossa volta, o bulício do mercado não cessava.
- Sim, como esta - anuiu ele fitando-me com um ar incrédulo. - Um certo número delas poderiam provocar um sobressalto, uma oscilação dos preços. - Deitou um novo olhar dubitativo à pedra. - É incrível. Em toda a minha existência, não vi cinco pedras desta qualidade. No espaço de dois dias, contemplo duas, como se fossem tão banais como berlindes de criança. Esta pedra está à venda?
- Não. Outra pergunta: se bem entendi, um traficante deve acima de tudo recear a De Beers...
- Isso mesmo. Mas não se deve subestimar as alfândegas, que dispõem de excelentes especialistas. As polícias do mundo inteiro vigiam estas pedrinhas tão fáceis de esconder.
- Qual é o interesse de um tráfico de diamantes?
- O mesmo de qualquer outro tráfico: escapar às taxas, às legislações dos países produtores e distribuidores.
Max Bõhm soubera tornear esta rede de obstáculos graças a um sistema que ninguém podia imaginar. Eu ainda precisava de mais duas confirmações. Guardei a pedra preciosa e tirei do meu saco as fichas do ornitólogo - essas fichas cobertas de algarismos que eu ainda não compreendera e cujo significado entrevia agora.
- É capaz de deitar uma olhadela a estes algarismos e dizer-me o que eles lhe evocam?
Baixou de novo os óculos e leu em silêncio.
- É perfeitamente claro - respondeu. - Trata-se de características referentes a diamantes. Falei-lhe dos quatro critérios: o peso, a cor, a pureza, a forma, Aquilo a que se chama os quatro C em inglês: Carat, Colour, Clarity, Cut... Cada linha, aqui, corresponde a um destes critérios. Veja, por exemplo, esta fila. Sob uma data, 13/4/87, leio: VVSI, que significa Very Very Small Inclusions. Uma pedra excepcionalmente pura, cujas inclusões não aparecem à lupa de aumentar dez vezes. Em seguida: 10 C. É o peso: 10 quilates. Um quilate corresponde a
0,20 gramas. Em seguida, a letra D, que significa: «Branco excepcional +», ou seja, a cor mais esplêndida. Temos aqui a descrição de uma pedra única. Se me referir às outras linhas e às outras datas, posso dizer-lhe que o possuidor destes tesouros dispõe de uma fortuna inaudita.
A minha garganta estava tão seca como um deserto. A fortuna de que Isaac falava era apenas o ”currículo” de uma única cegonha ao longo de vários anos de migração. Senti uma vertigem ao pensar na quantidade de fichas que tinha na minha sacola. Alguns dos fornecimentos de Bõhm. Cegonha após cegonha. Ano após ano. Efectuei uma última verificação:
- E isto, Isaac, pode dizer-me do que se trata? - Estendi-lhe um mapa da Europa e de África, atravessado por flechas a ponteado. Ele debruçou-se novamente e disse, ao cabo de uns segundos:
- Talvez sejam itinerários de encaminhamento dos diamantes, desde os lugares de extracção africanos até aos principais países da Europa que compram ou lapidam as pedras. Mas, afinal, o que é tudo isto? - acrescentou num tom trocista. - A sua ”teia”?
- A minha teia, sim, de certo modo - respondi.
Acabava de mostrar um simples mapa da migração das cegonhas - uma fotocópia tirada de um livro de criança e que Bõhm me dera. Levantei-me. O carrasco de galináceos ainda nadava em sangue.
Isaac levantou-se por seu turno e voltou à carga:
- O que vai fazer da sua pedra?
- Não posso vender-lha, Isaac. Preciso dela.
- É pena. De resto, essas pedras são demasiado perigosas. Paguei a conta e disse: - Isaac, só duas pessoas sabem que esse diamante está nas suas mãos: eu e a rapariga. Equivale a dizer que o caso está encerrado.
- Veremos, senhor Antioche. De qualquer modo, estas pedras incutiram-me um inesperado fervor juvenil, uma centelha fugidia na minha velhice.
Saudou-me com um gesto vago: - Shalom, Louis. Misturei-me na multidão. Meti pelas ruelas, flanqueei lojas e tentei orientar-me. As minhas ideias turbilhonavam e tinha dificuldade em concentrar-me. Além do mais, preocupava-me agora outro sentimento. Ou melhor, atezanava-me uma impressão desde que caminhava entre a multidão: a sensação de ser seguido.
Encontrei a rua Herzi e o Atzma’ut Square. já não estava muito longe do carro, mas decidi esperar um pouco mais no seio da multidão. Dirigi-me para a beira do mar.
O vento do largo soprava umas longas rabanadas salgadas. Virava-me, olhava para os transeuntes, escrutava os rostos.
Não havia neles nada de suspeito. Deslizavam alguns carros através da luz branca. A alta fachada dos prédios erguia-se tão clara como um espelho. Do outro lado da avenida, mesmo em frente do mar, uns velhotes tiritavam nas suas cadeiras. Contemplei aquela extensa correnteza de costas curvadas e tolhidas, e encolhi os ombros perante o absurdo dos seus trajes. Alternavam os tecidos pesados e espessos, quando afinal o calor devia ultrapassar os 35 graus. Lãs, sobretudos, um impermeável, cardigãs. Um impermeável! Mirei esta silhueta que seguia ao longo da balaustrada sobranceira à praia. O homem levava a gola levantada e as suas costas eram atravessadas por uma comprida marca de suor. Senti um baque: acabava de reconhecer um dos assassinos de Sófia.
Atravessei a avenida em passo de corrida.
O homem voltou-se. Abriu a boca e depois desatou a fugir, esgueirando-se por entre os velhos sentados. Acelerei, derrubando as cadeiras e os entrevados. Em poucas passadas alcancei o assassino. Ele meteu a mão no impermeável. Agarrei-o pela gola e desferi-lhe um directo no estômago. O grito perdeu-se-lhe na garganta. Tombou-lhe aos pés uma espingarda-metralhadora Uzi. Dei um pontapé na arma e agarrei-lhe a nuca com ambas as mãos. Esmaguei-lhe o rosto contra o meu joelho. O nariz partiu-se com um ruído seco. Ouvia atrás de mim os gemidos dos velhos espavoridos que se erguiam no meio das cadeiras de pernas para o ar.
- Quem és? - urrei em inglês -, quem és tu? - e dei-lhe uma cabeçada entre os olhos. O homem caiu para trás. O crânio estalejou no betume. Deitei-lhe a mão num ápice. As cartilagens e as mucosas escorriam-lhe pelo nariz. - Quem és, porra? - Descarreguei-lhe uma série de murros no rosto. As minhas falanges insensíveis abateram-se nos seus ossos. Bati, bati, esborrachei-lhe a boca ensanguentada. - Quem te paga, malandro? - berrei, segurando-o com a mão direita enquanto lhe vasculhava os bolsos com a esquerda. Encontrei a carteira dele. Entre outros papéis, arrebatei-lhe o passaporte. Azul em tons de metal, a cintilar ao sol. Fiquei boquiaberto ao reconhecer o logotipo incrustado: United Nations. O assassino tinha um passaporte das Nações Unidas.
O meu instante de surpresa foi excessivo.
O búlgaro pespegou-me umajoelhada entre as pernas e ergueu-se como uma mola. Dobrei-me num arquejo. Empurrou-me e atirou-me um pontapé de bota ferrada à mandíbula. Esquivei-me à justa, mas senti o meu lábio rasgar-se. Uma girândola de sangue atravessou o sol. Levei as mãos à cara e sustive as carnes com a mão esquerda, ao mesmo tempo que a direita sacava desajeitadamente da Glock. Mas o assassino já se escapulia a toda a pressa.
Numa outra cidade, eu teria beneficiado de alguns minutos para sair dali. Em Israel, dispunha quanto muito de alguns segundos antes que a polícia ou o exército interviessem. Varri o espaço com a minha arma para fazer recuar os velhos e depois arranquei, pernas para que vos quero, cambaleando e gemendo em direcção ao carro estacionado em Atzma’ut Square.
A mão tremia-me ao enfiar a chave na porta. O sangue corria em borbotões. Tinha os olhos cheios de lágrimas e a púbis em fogo. Abri a porta do automóvel e deixei-me cair no banco. Veio-me logo uma náusea, como se a cabeça fosse abrir-se ao meio. Vamos, pensei. Vamos lá, antes que me dê um fanico. Ao rodar a chave, o rosto de Sarah irrompeu no meu espírito. Nunca a desejara tanto, nunca me sentira tão sozinho. O carro arrancou asfalto ao pôr-se em marcha.
Rodei assim durante trinta quilómetros. Perdia muito sangue e a vista começava a toldar-se. Parecia-me que tocavam címbalos sob as minhas têmporas, a mandíbula ressoava como uma bigorna. As casas espaçaram-se e a paisagem não tardou a transformar-se em deserto. Receava a todo o momento que os polícias ou os soldados me mandassem parar. Avistei um rochedo alto e arrumei o carro à sombra dele. Virei o retrovisor para a minha cara. Metade do rosto não era mais do que uma pasta de sangue na qual já não se discernia nada. Só um comprido farrapo de carne pendia mesmo por baixo do queixo: o meu lábio inferior. Reprimi outra náusea e peguei no estojo de farmácia. Desinfectei a ferida, tomei analgésicos para acalmar a dor e atei uma ligadura elástica em volta dos lábios. Pus os óculos escuros e deitei uma nova olhadela ao retrovisor: o sósia do Homem Invisível.
Fechei os olhos por instantes e deixei a calma restabelecer-se dentro da cabeça. Tinham-me então seguido desde a Bulgária. Ou, pelo menos, conheciam o meu itinerário a ponto de me apanharem aqui em Israel. Este último facto não me espantava: afinal de contas, bastava seguir as cegonhas para dar comigo. O que me espantava mais era o passaporte das Nações Unidas. Tirei-o do bolso e folheei-o. O homem chamava-se MikIos Sikkov. Nacionalidade: búlgaro. Idade: 38 anos. Profissão: comboieiro. O assassino, se de facto trabalhava para o Mundo único, velava pelo transporte de carregamentos humanitários - medicamentos, comida, equipamentos. Esta palavra também tinha outro significado: Sikkov era um homem de Bôhm, um dos que, ao longo da rota das cegonhas, as espreitavam, vigiavam ou impediam que as caçassem em África. Folheei as páginas dos vistos. Bulgária, Turquia, Israel, Egipto, Mali, República Centro-Africana, África do Sul: os carimbos ofereciam uma perfeita confirmação da minha hipótese. Nos últimos cinco anos, o agente das Nações Unidas não cessara de palmilhar as rotas das cegonhas - Leste e Oeste. Enfiei o passaporte de Sikkov na capa rasgada da minha agenda e arranquei, retomando o caminho em direcção a jerusalém.
Durante meia hora atravessei paisagens pedregosas. A minha dor abrandava. A frescura do ar condicionado era benfazeja. Só acalentava um desejo: subir para um avião e abandonar aquela terra abrasadora.
Sob o efeito do pânico, não enveredara pelo trajecto mais rápido e ia ser obrigado a efectuar um longo desvio pelos Territórios Ocupados. Assim, cheguei às imediações de Naplusa às dezasseis horas. No estado em que me achava, havia razões para me inquietar com a perspectiva de ver aparecer barreiras do exército. Jerusalém ficava a mais de cem quilómetros. Reparei então num carro preto que seguia atrás de mim há já uns momentos. Observei-o pelo retrovisor: ondulava no ar ardente. Afrouxei. O carro aproximou-se. Era um Renault 25 de matrícula israelita. Tornei a afrouxar. Reprimi um arrepio de mil volts: Sikkov enquadrava-se no meu retrovisor com o rosto em sangue, o aspecto de um monstro escarlate aferrado ao seu volante. Meti a terceira e abalei velozmente. Em poucos segundos ultrapassei os duzentos quilómetros à hora. O automóvel não se distanciava de mim.
Rodámos assim durante uns dez minutos. Sikkov tentava passar-me à frente. Eu esperava a todo o instante ver o meu pára-brisas estilhaçado por uma rajada. Colocara a Glock no banco do passageiro. De repente, vi Naplusa erguer-se no horizonte, cinzenta e vaga por entre a dureza do ar. Muito mais perto, à direita, surgiu um acampamento palestiniano - uma placa anunciava: BALATAKAAw. Lembrei-me da minha matrícula israelita. Virei as rodas naquela direcção e saí da estrada principal. O pó obstruiu-me a marcha. Acelerei mais. já só estava a uns metros do acampamento. Sikkov ainda vinha no meu encalço. Vi sobre um telhado uma sentinela israelita de binóculo em punho. Nos outros terraços, mulheres palestinianas agitavam-se e apontavam o dedo para mim, Hordas de crianças corriam em todos os sentidos e apanhavam pedras. Tudo ia decorrer como eu esperava.
Investi contra a boca do inferno.
As primeiras pedras atingiram-me quando metia pela rua principal. O pára-brisas voou em pedaços. À minha esquerda, Sikkov ainda procurava insinuar-se entre mim e o muro oposto, crivado de graffitis. Primeiro choque. Os nossos dois carros ricochetearam nos muros que nos delimitavam. Mesmo à nossa frente, as crianças continuavam a lançar pedras. O Renault voltou ao assalto. Sikkov, ensanguentado, deitava-me olhares venenosos. Por toda a parte, sobre os telhados, as mulheres berravam, rodopiando entre os lençóis. Soldados israelitas acorriam, em estado de alerta, carregando as suas espingardas lacrimogéneas e agrupando-se na borda dos terraços.
De súbito desemboquei numa praceta. Virei bruscamente e continuei em derrapagem, com o chassis a raspar a terra enquanto uma chuva de pedras desabava sobre o automóvel.
Os vidros escaqueiraram-se. Sikkov passou à minha frente e depois barrou-me a estrada. Vi o assassino a erguer a espingarda contra mim e atirei-me para o banco do lado, e de seguida ouvi o ruído surdo da porta a ceder sob a rajada. No mesmo instante ecoaram os silvos das bombas lacrimogéneas. Levantei os olhos. Estava diante do cano do búlgaro. Procurei a minha Glock, que escorregara quando eu me desviara: demasiado tarde. Todavia, Sikkov não teve tempo para premir o gatilho. No momento em que me visava, uma pedra atingiu-o na nuca. Corcovou-se, soltou um urro e desapareceu. Os gases começaram a espalhar-se, turvando a vista e sufocando as gargantas.
O estrondo que nos rodeava era infernal.
Recuei e rastejei sobre o pó. Recuperei a Glock às apalpadelas. Os gases sibilavam, as mulheres gritavam, os homens arremetiam. Nos quatro cantos da praceta, os guerreiros da Intifada não cessavam de lançar pedras. já não visavam os nossos carros e atacavam unicamente os soldados que chegavam em massa. Imbricavam-se jipes na poeira, apeavam-se homens fardados de verde, munidos de máscaras de gás. Algumas espingardas cuspiam o veneno esbranquiçado, outras estavam carregadas de balas de borracha, outras ainda disparavam a valer - balas verdadeiras contra crianças verdadeiras. A praceta assemelhava-se a um vulcão em erupção. Ardiam-me os olhos e sentia a garganta em fogo. Só o estrépito dos passos e das armas fazia tremer o chão. De repente, porém, uma vaga profundajorrou da terra, como um ribombo, imenso, grave e magnífico. Um caudal de vozes entremeadas. Vi então os adolescentes palestinianos, erguidos sobre os murozitos, a cantarem o hino da sua revolta com os dedos esticados na forma do V da vitória.
Não tardou que passassem à minha frente as botas ferradas de Sikkov a fugir por entre o fumo espesso. Levantei-me e corri na sua direcção. Enveredei por pequenas ruelas, seguindo as pisadas do patife que perdia sangue, imediatamente sugado pela areia. Ao fim de uns segundos enxerguei-o. Arranquei as ligaduras e puxei a culatra da Glock. Continuámos a correr.
Sucediam-se os muros brancos de cal. Nem ele nem eu podíamos ir muito depressa, pois os gases empestavam-nos os pulmões. O impermeável de Sikkov estava a poucos passos de mim. Ia agarrá-lo quando o instinto o preveniu. Virou-se e apontou-me uma Mag-num 44. O revérbero da arma ofuscou-me. Desferi um pontapé na sua direcção. Sikkov recuou contra uma parede e assestou de novo a arma. Ouvi a primeira detonação. Fechei os olhos; o crânio de Sikkovjá não era mais do que um escancarado boqueirão de sangue e fibras. Carnes enegrecidas faziam esguichar uns pequenos géiseres escarlates. A parede, salpicada de miolos e ossos, exibia um buraco de pelo menos um metro de diâmetro. Meti a arma no coldre, por puro reflexo. Ao longe ainda se distinguia o cântico das crianças palestinianas a desafiarem as espingardas israelitas.
Dois soldados israelitas encontraram-me na praceta. O meu rosto expelia sangue e o meu espírito soçobrava
em pleno desvario. Não saberia dizer exactamente onde estava, nem o que fazia ali. Uns enfermeiros levaram-me logo. Tinha a Glock enfiada sob o casaco. Alguns minutos mais tarde recebia uma transfusão deitado numa cama de ferro sob uma tenda aquecida.
Chegaram médicos que me observaram o rosto. Exprimiam-se em francês, falaram de agrafos, de anestesia, de intervenção. Tomavam-me por um turista inocente, vítima de um ataque da Intifada. Compreendi que me achava num dispensário da organização Mundo único, situado a quinhentos metros de Balatakamp. Se os meus lábios fossem mais do que uma massa espapaçada, teria sorrido. Meti sub-repticiamente a Glock debaixo do colchão e fechei os olhos. Acto contínuo, a noite apoderou-se de mim.
Quando acordei, estava tudo silencioso e negro. Não discernia sequer o tamanho da tenda. Tremia de frio e escorria suor por todos os lados. Tornei a fechar os olhos e regressei aos meus pesadelos. Sonhei com um homem de braços compridos e secos que retalhava um corpo de criança dando mostras de um sangue-frio e de uma aplicação implacáveis. De vez em quando mergulhava os lábios negros nas entranhas palpitantes. Nunca lhe via a cara, pois movia-se numa autêntica floresta de membros e torsos pendurados de ganchos, que mostravam a cor ocre e reluzente dos pedaços de carne lascada tão frequente nos restaurantes chineses.
Sonhei com uma explosão de carnes num abrigo em lona de paredes bojudas. Com o rosto de Rajko a sofrer até à morte, de barriga fendida e tripas latejantes. Com Iddo, inteiramente esquartejado, de órgãos expostos, qual Prometeu atroz devorado pelas cegonhas.
Amanheceu. A vasta tenda estava cheia de camas e odores a cânfora; jaziam ali alguns jovens palestinianos feridos. O zunido dos geradores ressoava ao longe. Por três vezes, durante o dia, tiraram-me os pensos para me darem de comer uma espécie de papa de beringelas acompanhada de um chá mais preto do que nunca. Tinha a boca como uma laje de betão, o corpo moído de cansaço. Esperava a todo o instante que soldados das Nações Unidas ou do exército israelita viessem tirar-me dali e levar-me. Mas ninguém vinha e, por mais que arrebitasse as orelhas, não ouvia falar da morte de Sikkov.
Despertei lentamente para a realidade que me rodeava. A Intifada era uma guerra de crianças e eu encontrava-me num hospital de crianças. Nas camas ao pé de mim havia garotos a sofrer e a agonizar num silêncio cheio de orgulho. Por cima das camas, as radiografias patenteavam os desastres dos seus corpos destroçados: membros partidos, carnes perfuradas, pulmões infectados. Também se viam ali muitas crianças simplesmente doentes - a falta de salubridade dos campos favorecia todas as infecções.
Ao entardecer sobreveio um ataque. Ouviu-se ao longe o ruído das espingardas, o silvo das bombas lacrimogéneas e os gritos das crianças desenfreadas e ébrias de raiva, que corriam e se protegiam nas ruazitas de Balatakamp. Pouco depois, chegou o cortejo dos feridos. Mães em lágrimas, histéricas sob os véus, trazendo os seus filhos violáceos a tossir e a sufocar. Crianças mortificadas, com as roupas ensopadas em sangue, o olhar mortiço, contorcidas sobre as macas. Pais a soluçar e dando a mão aos seus filhos, aguardando a intervenção cirúrgica ou clamando lá fora, no meio do pó, a sua sede de vingança.
Uma ambulância israelita veio buscar-me ao terceiro dia. Queriam instalar-me num quarto confortável em Jerusalém até ao dia do meu repatriamento. Recusei. Uma hora depois, uma delegação da Secretaria de Turismo veio propor-me um regime alimentar melhorado, um colchão mais confortável e toda a espécie de vantagens. Recusei novamente. Não por solidariedade para com os árabes, mas porque aquela tenda era para mim o único refúgio possível - a minha Glock, com o carregador cheio, estava escondida debaixo do colchão. Os israelitas mandaram-me assinar um formulário, estipulando que tudo o que me havia acontecido ou podia ainda acontecer-me na CisJordânia era da minha inteira responsabilidade. Assinei. Pedi-lhes, em compensação, um novo carro de aluguer.
Depois de eles se irem embora, lavei-me e examinei a minha cara num espelho imundo. A pele ainda escurecera mais e eu emagrecera consideravelmente. As maçãs do rosto esticavam a pele como um escalpo.
Soergui cautelosamente o penso que me barrava a boca. Estirada sob o lábio inferior, uma longa cicatriz formava, sem tirar nem pôr, um segundo sorriso como que tecido em arame farpado. Meditei neste novo rosto. Em seguida pensei na minha personalidade, que não cessava de evoluir. Extraí daqui um obscuro optimismo, febril e suicidário. Parecia-me que a minha abalada de 19 de Agosto fora por assim dizer um apocalipse íntimo. Em poucas semanas convertera-me num viajante anónimo, sem apegos, que corria tremendos riscos mas se sabia ressarcido todos os dias pela realidade que descobria.
Aliás, Sarah já mo dissera: eu não era ”ninguém”. As minhas mãos sem impressões digitais tinham-se tornado no símbolo desta nova liberdade.
À noite cogitei no Mundo único. As minhas suspeitas não se confirmavam. Em poucos dias de presença, pudera avaliar a organização: não havia qualquer sinal de manipulações, de operações abusivas ou de caçadores de órgãos. Os homens do Mundo único eram realmente médicos voluntários, exercendo o seu ofício com zelo e atenção. Ainda que esta organização surgisse sempre no meu caminho, ainda que Sikkov declarasse trabalhar para ela, ainda que Max Bõhm, por alguma misteriosa razão, tivesse legado a sua fortuna à associação, a tese do tráfico de órgãos não conduzia a parte alguma. No entanto, existia um laço - era evidente.
No dia 10 de Setembro, Christian Lodemberg, um dos médicos suíços do Mundo único, com quem eu travara
conhecimento no campo, tirou-me os agrafos. Articulei logo algumas sílabas. Contra toda a expectativa, elas saíram claras e inteligíveis da minha boca pastosa. Recobrara o uso da fala. Nessa mesma noite expliquei a Christian que era ornitólogo e andava à procura de aves. Christian parecia céptico.
- Há cegonhas por aqui? - perguntei-lhe.
- Cegonhas?
- As aves pretas e brancas?
- Ah... - Christian, com os seus olhos claros, buscava um duplo sentido para as minhas palavras. - Não, não há bichos desses em Naplusa. É preciso ir a Beit She’an, no vale do Jordão.
Expliquei-lhe a minha viagem e o acompanhamento por satélite através da Europa e da África.
- Conheces um certo Miklos Sikkov? - voltei a interrogá-lo. - Um tipo das Nações Unidas.
- Esse nome não me diz nada. Estendi-lhe o passaporte do assassino.
- Conheço este tipo - afirmou-me, olhando para a fotografia. - Onde arranjaste o documento?
- O que sabes sobre ele?
- Pouca coisa. Rondava de vez em quando por aqui. Era um tipo dúbio. - Calou-se e fitou-me. - Morreu no dia do teu acidente.
Devolveu-me o passaporte metalizado.
-já não tinha cara. Levou no rosto com dezasseis balas de
45 mm, à queima-roupa. Eu nunca tinha visto uma carnificina assim. Uma 45 não é uma arma habitual por aqui. De facto, a única 45 que conheço é a que escondes debaixo do teu colchão.
- Como sabes?
- Uma pequena inspecção pessoal...
- E Sikkov - insisti -, quando é que o descobriram?
- Logo depois de ti, a poucas ruas daqui. No meio da balbúrdia, ninguém o relacionou com a tua presença. Primeiro pensou-se num ajuste de contas entre palestinianos. Depois reconheceram-se as roupas, a arma, tudo. A análise das impressões digitais (no Mundo único, todos temos cadastro) confirmou a identidade do búlgaro. Os médicos que realizaram a autópsia encontraram várias balas na caixa craniana. Li o relatório, um documento confidencial, sem nome nem número. Compreendi logo que havia tramóia. Antes de mais, a morte do homem rodeava-se de mistério. Em seguida, tratava-se do tal búlgaro cujo papel era nebuloso. Explicámos ao Shin-bet que se tratava de um simples acidente, que o corpo dependia da nossa organização, que nada disto dizia respeito à polícia israelita. Somos protegidos pelas Nações Unidas. Os israelitas calaram a boca. Ninguém mais falou de assassinato nem da 45. Caso arquivado.
- Quem era Sikkov?
- Não sei. Uma espécie de mercenário, enviado por Genebra, incumbido de assegurar a nossa vigilância contra eventuais pilhagens. Sikkov era um tipo suspeito. No ano passado só veio umas vezes, em data fixa.
- Quando?
-já não me lembro. Setembro, creio, e Fevereiro.
As datas de passagem das cegonhas em Israel. Nova confirmação: Sikkov era de facto um ”peão” de Bõhm.
- O que fizeram do corpo dele? Christian encolheu os ombros:
- Enterrámo-lo, muito simplesmente. Sikkov não era o género de tipo que a família reclamasse.
- Não vos interessou saber quem o aviara?
- Sikkov era um tipo duvidoso. Ninguém o lamentou. Foste tu que o mataste?
- Sim - ciciei. - Mas não posso dizer-te muito mais. Falei-te da minha viagem na esteira das cegonhas. Tenho a impressão de que Sikkov também as seguia. Em Sófia, o búlgaro e um outro homem tentaram matar-me. Abateram vários inocentes. No confronto, despachei o acólito dele e fugi. Em seguida, Sikkov encontrou-me aqui. Na realidade, ele conhecia a minha próxima etapa.
- Como o teria sabido?
- Por causa das cegonhas. Não fazes de facto ideia do que Sikkov traficava aqui no campo?
- Pelo menos, nada que se relacionasse com o plano médico. Este ano, chegou há quinze dias. Depois partiu quase imediatamente. Quando tornámos a vê-lo, estava morto.
Isso queria dizer que Sikkov aguardava as cegonhas em Israel, mas ”alguém” o chamara de regresso à Bulgária, com o único objectivo de me abater.
- Sikkov dispunha de armas sofisticadas. Como explicas isto?
- Tens a resposta nas tuas mãos. - Eu ainda segurava o passaporte metalizado. - Sikkov, enquanto agente de segurança das Nações Unidas, dispunha sem dúvida das armas dos Capacetes Azuis.
- Por que motivo tinha Sikkov um passaporte das Nações Unidas?
- Um tal passaporte é muito prático. já não precisas de vistos para transpor as fronteiras, evitas todos os controlos. As Nações Unidas concedem por vezes este género de facilidades aos nossos agentes que viajam bastante. Uma ”prenda”, por assim dizer.
- O Mundo único está muito ligado ao organismo internacional?
- Sim, de certo modo. Mas conservamos a nossa independência.
- O nome de Max Bõhm lembra-te alguma coisa?
- É um alemão?
- Um ornitólogo suíço, altamente conhecido no teu país. E o nome de lddo Gabbor?
- Também não.
Nem estes nomes nem os de Milan Djuric ou Markus Lasarevitch evocavam algo a Christian.
Continuei a perguntar:
- As vossas equipas realizam operações cirúrgicas importantes, do género transplante de órgãos?
Christian fez um gesto evasivo:
- Não dispomos de material suficientemente sofisticado.
- Não efectuam sequer análises de tecidos para descobrir eventuais compatibilidades de órgãos?
- Uma tipagem HLX, queres tu dizer? - Anotei o termo no meu pequeno canhenho. - Não, de modo nenhum. Enfim, talvez. Não sei. Efectuamos muitas análises nos nossos pacientes. Mas com que fito faríamos uma tipagem tecidual? Não possuímos o material para operar.
1 HLA: sigla do inglês Human Leucocyte Antigens, conjunto de antigéneos comuns aos leucócitos e às plaquetas e que se repartem em grupos teciduais, tendo um papel essencial nos enxertos de pele e transplante de órgãos. (N. do T.)
Fiz uma última pergunta:
- Além da morte de Sikkov, alguma vez observaste aqui violências estranhas, actos de crueldade que não se quadravam com a Intifada?
Christian abanou a cabeça:
- Não precisamos de originalidades desse género .Mirava-me agora como se nunca me tivesse visto antes, e acrescentou com um sorriso nervoso:
- O teu olhar enche-me de medo. Preferia quando eras mudo, podes crer!
Dois dias depois abalei para Jerusalém. Amadureci o meu novo plano durante o caminho. Estava mais do que nunca resolvido a prosseguir a rota das cegonhas. Mas ia mudar de direcção: a presença de Sikkov em Israel provava que os meus inimigos conheciam o meu fio condutor o voo das aves. Decidi pois contrariar esta lógica indo ao encontro das cegonhas do Oeste. A mudança de rumo comportava duas vantagens: por um lado, trocaria as voltas aos meus perseguidores, pelo menos momentaneamente. Por outro lado, as cegonhas do Oeste, sem dúvida chegadas já às vizinhanças da República Centro-Africana, levar-me-iam aos próprios traficantes.
Entrei no aeroporto Ben Gurion, totalmente deserto, por volta das dezasseis horas. Partia um avião para Paris ao fim da tarde. Muni-me de moedas e procurei uma cabina telefónica.
Liguei primeiro para o meu atendedor. Dumaz telefonara várias vezes. Inquieto, falava de lançar um pedido de busca internacional. Tinha sérias razões para se angustiar: uma semana antes, eu prometera telefonar-lhe no dia seguinte. Através das suas mensagens, pude seguir a evolução do seu inquérito. Dumaz fora a Antuérpia e falava de «descobertas essenciais.
O inspector encontrara sem dúvida o rastro de Max Bõhm ao longo das Bolsas de diamantes.
Wagner também telefonara repetidas vezes, desconcertado com o meu silêncio. Acompanhava minuciosamente o itinerário das cegonhas e, segundo dizia, enviara para minha casa um fax recapitulativo. Havia de igual modo uma chamada da Nelly Braesler. Marquei o número directo de Dumaz. O inspector respondeu ao cabo de oito toques e sobressaltou-se ao ouvir a minha voz:
- Louis, onde está? julguei que tivesse morrido.
- Não faltou muito. Estive refugiado num campo palestiniano.
- Num campo palestiniano?
- Depois conto-lhe tudo, em Paris. Regresso esta noite.
- Suspende a investigação?
- Pelo contrário, continuo ainda com mais ganas.
- O que descobriu?
- Muitas coisas.
- Por exemplo?
- Não posso dizer-lhe nada pelo telefone. Aguarde a minha chamada logo à noite e mande-me sem demora um fax. Combinado?
- Sim, eu...
- Adeus.
Desliguei; em seguida telefonei ao Wagner. O cientista confirmou-me que as cegonhas do Leste se encaminhavam para o Sudão - tinham quase todas conseguido transpor o canal do Suez. Interroguei-o em seguida sobre as do Oeste, explicando-lhe a minha vontade de acompanhar agora essa migração. Inventei novas razões - a impaciência de as surpreender na savana africana, de estudar o seu comportamento e a sua alimentação. Ulrich consultou o programa e deu-me as informações. As aves atravessavam actualmente o Saara. Algumas já tomavam a direcção do Mali e do delta do Níger, outras a da Nigéria, do Senegal e da República Centro-Africana. Pedi-lhe que me enviasse por fax o mapa-satélite e a lista das localizações exactas.
Era altura de registar as minhas bagagens - desmontara a Glock 21 e dissimulara as suas partes de metal, cano e culatra, numa espécie de minicaixa de ferramentas engordurada que Christian me dera. Em contrapartida, deixara todos os cartuchos. No balcão de registo esperava-me um funcionário da Secretaria de Turismo israelita. Com um ar amável, não me escondeu que me seguia desde que saíra de Balatakamp. Pediu-me que o acompanhasse e tive a agradável surpresa de atravessar os serviços de alfândega e de controlo com as bagagens na mão e sem a sombra de uma revista ou de um interrogatório. ”Queremos poupar-lhe os habituais incómodos do regulamento israelita”, explicou o meu guia. Deplorou, uma vez mais, o ”acidente” de Balatakamp e desejou-me uma boa viagem. Na sala de embarque, amaldiçoei-me interiormente por não ter trazido as balas de 45 mm.
Descolámos às dezanove e trinta. No avião, abri o livro que Christian me dera, Os Caminhos da Esperança, onde Pierre Doisneau contava a sua história. Percorri em diagonal este calhamaço de seiscentas páginas. Era um livro repleto de grandes sentimentos e escrito com uma certa mestria. Assim, podia-se ler: ”... Os rostos dos doentes estavam pálidos. Irradiavam tristemente uma luz suave que tinha a cor acre e melancólica do enxofre. Nessa manhã, soube que tais crianças eram outras tantas flores, flores doentes que me cumpria preservar e restituir-lhes uma vida sadia ... ”.
Ou ainda: ”A monção aproximava-se. E, com ela, as coortes inalteráveis de miasmas e doenças. A cidade ia cobrir-se de vermelho e as ruas iam atrair a morte. Pouco importava o bairro, pouco importava a maneira. O espectáculo da dor humana ia espalhar-se e enlanguescer ao longo dos passeios inundados. Até aos confins febris da humanidade, onde a obscuridade das carnes é devolvida à sua noite cega ... ”.
E mais adiante: ”... O rosto de Khalil estava escarlate. Ele mordia o cobertor e retinha as lágrimas. Não queria chorar na minhafrente. E a criança até me sorria, lá do fundo do seu orgulho. De repente cuspiu sangue. E eu soube que era o orvalho que Por vezes precede as trevas intermináveis, saudando assim a sua entrada no além... ”.
Este estilo era ambíguo. Emanava um estranho fascínio das imagens e da escrita. Doisneau transfigurava o sofrimento de Calcutá e, de certo modo, conferia-lhe uma beleza perturbante. Todavia, eu adivinhava que o êxito do livro derivava antes de tudo do destino solitário deste doutor francês que defrontara a irreprimível desgraça do povo indiano. Doisneau contava tudo: o horror dos bairros de lata, dos milhões de seres que vivem como ratos no meio da imundície e da doença, a abjecção dos que sobrevivem vendendo o seu sangue, os seus olhos ou puxando riquexós...
Os Caminhos da Esperança era um livro maniqueísta. De um lado, havia a dor quotidiana, insustentável, da multidão. Do outro, um homem sozinho que gritava «não» e reabilitava esta população sofredora. No entender dele, os bengalis tinham sabido conservar uma verdadeira dignidade perante a dor. O público gosta deste género de histórias a propósito do «orgulho da desgraça». Fechei o livro. Não me ensinara nada - a não ser que o Mundo único e o seu fundador eram nitidamente irrepreensíveis.
O avião aterrou cerca da meia-noite. Passei na alfândega de Roissy-Charles de Gaulle e apanhei um táxi na noite clara. Estava de regresso ao país.
Era quase uma hora da madrugada quando entrei no meu apartamento. Tropecei no correio amontoado sob a porta e recolhi-o; depois visitei cada um dos compartimentos a fim de verificar se algum intruso penetrara ali durante a minha ausência. Em seguida fui para o escritório e telefonei a Dumaz. O inspector enviou-me logo um fax de mais de cinco páginas.
Li o documento de uma assentada, sem sequer pensar em sentar-me. Em primeiro lugar, Dumaz encontrara o rastro de Max Bõhm em Antuérpia. Mostrara o retrato do ornitólogo nas Bolsas de diamantes. Várias pessoas tinham reconhecido o velho Max e recordavam-se perfeitamente das suas visitas regulares. Desde 1979 que o suíço vinha vender diamantes todos os anos, sempre nas mesmas datas: entre Março e Abril. Alguns negociantes gracejavam a tal propósito, perguntando-lhe se possuía uma ”árvore de diamantes” que desabrochava na Primavera.
O segundo capítulo do fax era ainda mais interessante. Antes de partir para a Europa, Dumaz pedira à CSO - a imensa central de compra de diamantes brutos, com sede em Londres, que controla 80 a 85% da produção bruta mundial de diamantes - a lista completa dos responsáveis (engenheiros e geólogos) que haviam trabalhado nas minas africanas, tanto a Leste como a Oeste, desde 1969 até aos nossos dias. já de regresso, estudara pacientemente esta longa lista e descobrira, ao lado de Max Bõhm, pelo menos dois outros nomes que conhecia.
O primeiro era o de Otto Kiefer. Segundo a CSO, ”Tonton Granada” ainda dirigia várias minas de diamantes na República Centro-Africana, designadamente a Sicamine. Ora, Dumaz tinha a certeza de que o checo desempenhava um papel essencial no tráfico das pedras. O segundo abria horizontes insuspeitados. Na lista que dizia respeito à África Austral, Dumaz notara um nome que lhe lembrava algo: NieIs van Dõtten, um homem que trabalhara ao lado de Max Bõhm de 1969 a 1972 na África do Sul e que era hoje um dos principais responsáveis pelas minas de Kjmberley. NicIs van Dõtten era igualmente o geólogo belga que partira com Bõhm para a floresta profunda em Agosto de 1977. Guillard, o engenheiro francês interrogado por Dumaz, é que atribuíra a van Dõtten a origem flamenga. O nome e o sotaque de van Dõtten haviam-no enganado.
O homem não era belga nem holandês. Era um africânder, um branco da África do Sul.
Esta descoberta essencial demonstrava que Bõhm conservara desde os anos setenta relações continuadas na África do Sul com um especialista em diamantes. Mais, van Dõtten, por qualquer razão misteriosa, juntara-se a Bõhm na RCA em Agosto de 1977. Os dois deviam ter reatado contacto após a ”ressurreição” de Bõhm em 1978. Van Dõtten era o traficante do Leste - aquele que ”equipava” as cegonhas austrais, despojando as minas de que estava encarregado -, enquanto Kiefer era o homem do Oeste.
Mesmo antes do fax de Dumaz achava-se a telecópia de Wagner, transmitida nessa tarde, A mensagem incluía um mapa-satélite da Europa, do Próximo Oriente e de África, no qual sobressaíam os itinerários observados das cegonhas e o seu trajecto vindouro. Na Europa, à cabeça da rede, escrevi ”Max Bõhm”, o cérebro do sistema. A meio do caminho, no centro de África, inscrevi: «Otto Kiefer». A Sudeste, em baixo: ”Niels van Dõtten”. Entre estes nomes, no mapa-satélite corriam as trajectórias das cegonhas, ligando os três sítios a ponteado. O sistema era perfeito. Infalível.
Marquei o número de Dumaz.
- Então? - disse ele ainda antes de ouvir a minha voz.
- Está perfeito - respondi. - As suas informações confirmam os meus próprios resultados.
- É agora a sua vez de me explicar o que sabe.
Resumi as minhas descobertas: a ”teia” das cegonhas, os diamantes, Sikkov e o seu acólito, a implicação misteriosa do Mundo único. A concluir, comuniquei a Dumaz a minha decisão de ir à República Centro-Africana. O inspector ficou sem voz. Apesar de tudo, ao cabo de um minuto perguntou:
- Onde estão os diamantes?
- Quais?
- Os do Leste, que desapareceram com as aves.
A pergunta desorientou-me. Não falara de Iddo nem de Sarah, Dumaz parecia fortemente intrigado por esta fortuna extraviada. Resolvi mentir:
- Não sei - respondi laconicamente.
Dumaz suspirou:
- O caso está a adquirir uma importância que nos ultrapassa.
- Porquê?
- Sempre pensei que Max Bõhm traficava mercadorias africanas. Mas imaginava que eram simples miudezas. A amplidão do sistema deixa-me sem respiração.
- O que pretende dizer?
- Falei com os homens da CSO. Há anos que eles suspeitam de um tráfico de diamantes em que Max Bõhm desempenharia um papel central. Nunca conseguiram deslindar a rede, a teia das cegonhas que você acaba de descobrir. Trabalhou bem, Louis. Mas é melhor passar o testemunho. Devemos entrar em contacto com a CSO.
- Proponho-lhe um acordo. Conceda-me mais dez dias, o tempo necessário para ir à República Centro-Africana e voltar, e depois iremos juntos entregar o caso à CSO e à Interpol. Até lá, nem uma palavra.
Dumaz hesitou, mas acabou por dizer:
- dez dias, combinado.
- Ouça - volvi eu. - Tenho uma missão para si, Introduziu-se uma personagem neste enredo. Uma mulher. Chama-se Sarah Gabbor. Está metida no assunto sem saber e possui diamantes que tenta actualmente vender em Antuérpia. Não lhe deve ser difícil encontrar o rastro dela.
É uma das cúmplices de Bõhm?
Não. Procura simplesmente negociar pedras. Muitas?
Algumas. Devido a uma desconfiança irracional, eu acabava de mentir novamente a Dumaz.
- Como é ela? - perguntou.
- Muito alta, esguia. Tem vinte e oito anos, mas parece mais velha. Loura, cabelo de comprimento médio, uma pele mate e olhos de uma beleza perfeita. O rosto é bastante anguloso, um tanto original. Acredite, Hervé: as pessoas que a virem lembrar-se-ão dela.
- As pedras são brutas, suponho...
- Sim. Provêm da rede de Bõhm.
- Há quanto tempo procura ela vendê-las?
- Há quatro ou cinco dias, sem dúvida. Sarah é israelita. Vai transaccionar com negociantes judeus. Peço-lhe que visite de novo aqueles com quem já falou.
- E se eu encontrar a pista dela?
- Aborde-a calmamente e explique-lhe que trabalha comigo. Não se refira aos diamantes. Convença-a simplesmente a pôr-se ao abrigo até ao meu regresso. Está bem?
- Pois sim. - Dumaz pareceu reflectir durante uns segundos e depois disse: - Admitamos que desencanto essa Sarah.
O que posso dizer-lhe para a persuadir de que colaboramos os dois?
- Diga-lhe que trago a sua Glock sobre o coração.
- A sua quê?
- A sua Glock. G-L-O-C-K. Ela compreenderá. última coisa
- acrescentei. - Não se fie na aparência de Sarah. É bela e fina, mas é uma mulher perigosa. É israelita, percebe? Uma combatente treinada, perita em armas de fogo. Desconfie do mais pequeno dos seus gestos.
- Estou a ver - disse Dumaz numa voz neutra. - É tudo?
- Pedi-lhe informações sobre o Mundo único. Não encontrei nada no seu fax.
- Deparei com sérios obstáculos.
- Quais?
- O Mundo único forneceu-me um mapa pormenorizado dos seus centros espalhados pelo mundo. Mas a organização recusa-se a entregar-me a lista do Clube dos 1001.
- Na sua qualidade de polícia, pode...
- Não tenho mandado nem qualquer ordem oficial. Por outro lado, o Mundo único é uma verdadeira instituição na Suíça. Seria mal visto que um pequeno polícia começasse a aborrecê-los
189
por causa de suposições que, bem vistas as coisas, não têm fundamento. Francamente, sou muito pouco influente.
Dumaz exasperava-me. Perdera toda a eficácia.
- Pode ao menos telecopiar-me esse mapa?
- Assim que pousarmos os auscultadores.
- Hervé, vou partir o mais cedo possível para África, amanhã ou depois de amanhã. Não entrarei em contacto consigo. É demasiado complicado. Dentro de uns dez dias reaparecerei com a chave definitiva do enigma.
Despedi-me de Dumaz e desliguei. Uns segundos mais tarde já o meu fax zunia. Era o mapa dos centros do MU. De momento havia cerca de sessenta acampamentos em todo o mundo, dos quais perto de um terço eram permanentes. Os outros acampamentos deslocavam-se ao sabor das urgências. Estavam implantados centros na Ásia, em África, na América do Sul, na Europa do Leste. Apareciam concentrações nos países dilacerados pela guerra, fome ou miséria. Assim, o Corno de África contava mais de uns vinte campos. O Bangladesh, o Afeganistão, o Brasil e o Peru totalizavam outros vinte. No meio desta distribuição díspar, discerni dois traçados que se me afiguravam muito claros. Um itinerário ”Leste” através dos Balcãs, Turquia, Israel, Sudão e, por fim, a África do Sul. Um traçado ”Oeste”, muito mais curto, partindo do Sul de Marrocos (a Frente Polisário) e repartindo-se depois entre o Mali, o Níger, a Nigéria e a República Centro-Africana. Sobrepus este mapa ao de Wagner: os acampamentos acompanhavam a rota das cegonhas e podiam facilmente servir de pontos de apoio às sentinelas das aves, como Sikkov.
Mal dormi nessa noite. Informei-me dos voos com destino a Bangui: um voo Air Afrique descolava no dia seguinte à noite, às 23:30. Reservei um lugar em primeira classe - ainda a expensas de Bõhm.
O tornilho da minha sina apertava-se um pouco mais. Estava novamente sozinho. A caminho do núcleo ígneo do mistério - e das cinzas do meu próprio passado.
No dia 13 de Setembro à noite, quando as portas envidraçadas de Roissy-Charles de Gaulle se abriram sob o painel AirAfyique, compreendi que penetrava já no continente negro. Mulheres altas ostentavam os seus bubus sarapintados; negros muito sérios, cingidos em fatos de diplomata, vigiavam as suas malas de cartão; gigantes de turbante, djetlaba clara e bengala de madeira esperavam pacientemente sob os ecrãs das partidas. São muitos os voos para África que partem de noite - e via-se assim uma autêntica multidão ao longo dos balcões.
Registei as minhas bagagens e fui pelas escadas rolantes até à sala de embarque. Completara o meu equipamento durante o dia. Comprara uma pequena mochila impermeável, um poncho de oleado (a época das chuvas atingia agora o auge na RCA), uma capa de algodão fino, sapatos de marcha feitos de uma matéria sintética que secava muito rapidamente, e uma importante faca de lâmina denteada. Arranjara uma tenda leve, para uma ou duas pessoas, em caso de acampamentos improvisados, e enriquecera o meu estojo de farmácia com medicamentos antipalúdicos, preparações contra as cólicas, vaporizador antimosquitos... juntara igualmente alguns alimentos de sobrevivência - barras de pasta de amêndoa, cereais, pratos auto-aquecíveis - que me permitiriam evitar osjantares de macacos grelhados ou de antílopes no espeto... Enfim, levava comigo um dictafone e cassetes de cento e vinte minutos - o bastante para conservar a memória gravada de eventuais interrogatórios.
Embarcámos por volta das vinte e três horas. O avião ia meio-vazio e os passageiros eram todos masculinos. Além de mim, não havia mais nenhum branco. A República Centro-Africana não parecia ser um destino turístico. Os negros instalavam-se, conversando numa língua desconhecida, cheia de sílabas amassadas e entoações agudas. Adivinhei que falavam sango, a língua nacional da República Centro-Africana. Às vezes exprimiam-se em francês, um francês onde abundavam os ocos e as bossas, os ”vrrrrraiment” sentenciosos e os ”r” em guizos. Fiquei logo a gostar desta linguagem inesperada. Era a primeira vez que uma língua ”falava”, tanto pelas suas sonoridades como pelas palavras efectivamente pronunciadas.
O DC 10 descolou à meia-noite. Os meus vizinhos do lado abriram as suas pastas de executivos e tiraram de lá garrafas de gin e de whisky. Ofereceram-me um copo. Recusei. Lá fora a noite resplandecia e dava a impressão de nos rodear de um halo estranho. As cavaqueiras dos outros passageiros embalavam-me docemente. Não tardei a adormecer.
Às duas da madrugada fizemos escala em N’Djamena, no Chade. Através da vigia, enxerguei apenas um vago edifício mal iluminado ao fim da pista. Pela porta aberta, o calor transmitia-se ao avião, acre e como que faminto. No exterior, silhuetas esbranquiçadas flutuavam na escuridão. De súbito, tudo desapareceu. Descolámos novamente. N’Djamena fora tão furtiva quanto um sonho.
Às cinco da manhã acordei bruscamente. A luz do dia brilhava por cima das nuvens. Era uma luz cinzenta e vibrante, um verniz metálico cujos reflexos cintilavam como mercúrio.
O avião rojou-se a oitenta graus no coração das nuvens. Atravessámos camadas de preto e azul-acinzentado que nos mergulharam numa completa escuridão.
E de repente apareceu a África.
A floresta infinita desenrolava-se aos nossos olhos. Era um mar de esmeralda, imenso e ondulante, que se particularizava à medida que descíamos. O verde-escuro alumiava-se e matizava-se aos poucos. Avistei cabeleiras esguedelhadas, cristas encrespadas, cimos em efervescência. Os rios eram amarelos, a terra de um vermelho cor de sangue, e as árvores dardejavam como espadas de frescura. Tudo era vivo, acerado, luminoso. Por vezes escapavam-se deste fulgor uns delíquios mais foscos, espaços de repouso, que tinham a indolência dos nenúfares ou a calma das pastagens. Surgiram cabanas minúsculas erguidas na selva. Imaginei os homens que ali viviam, que pertenciam aquele mundo exuberante. Imaginei essa existência desafogada, essas manhãs fulgurantes em que os gritos dos animais sibilam aos ouvidos, em que a terra se afunda sob os pés, recebendo a marca da nossa lenta decrepitude. Permaneci assim, abismado no estupor, durante toda a manobra da aterragem.
Não sei onde se situa exactamente o trópico de Câncer, mas, ao desembarcar, compreendi que o transpusera, a ponto de aflorar agora o equador. O ar não era mais do que uma borrasca de fogo. O céu mostrava uma claridade átona e infinitamente pura - como que deslavada para o resto do dia pelos aguaceiros da manhã. E, sobretudo, os odores explodiam em todos os sentidos. Perfumes lentos e pesados, remorsos tenazes e crus, compondo uma singular mistura de excesso de vida e morte, de eclosão e apodrecimento.
A sala de chegada era um simples bloco de betão em bruto, sem decoração nem acabamentos. Ao centro viam-se dois pequenos balcões de madeira, atrás dos quais uns militares armados inspeccionavam os passaportes e os certificados de vacina. A seguir havia a alfândega: um comprido tapete rolante, avariado, onde toda a gente devia abrir as bagagens (a minha Glock continuava desmontada em peças avulsas, repartida pelos dois sacos). O soldado inscreveu uma cruz com um giz húmido e autorizou-me a passar. Dei comigo cá fora, entre uma turba de famílias vozeantes que tinham vindo esperar os seus irmãos ou primos. A humidade intensificava-se ainda mais e fez-me crer que penetrava no interior de uma esponja infinita.
- Onde vais, patrão?
Um negro corpulento, de sorriso duro, barrava-me o caminho. Oferecia-me os seus serviços. Sem pensar muito, talvez por desafio, retorqui: - Sicamine. Leva-me ao hotel do costume. - O nome da mina, puro bluff da minha parte, foi como um sésamo. O homem assobiou por entre os dedos e chamou uma horda de gaiatos que pegaram logo nas minhas bagagens. Ele não cessava de lhes repetir ”Sicamine, Sicamine”, a fim de acelerar o movimento. Um minuto depois iajá a caminho de Bangui, num táxi amarelo e poeirento cujo chassis raspava o chão.
Bangui nada tinha de cidade. Era antes uma comprida aldeia composta de tijolo e barro. As casas eram de adobe, recobertas de chapa ondulada. A estrada era de terra batida e um sem-fim de transeuntes seguiam ao longo desta pista escarlate. Sob o céu lubrificado, captei a dualidade das cores africanas: o preto e o vermelho. A Carne e a Terra. As chuvas da alvorada tinham empapado o solo e os buracos da pista formavam poças rutilantes. Os homens usavam camisetas e sandálias, cheios de elegância. Caminhavam num passo bamboleante, enfrentando com galhardia o calor nascente. Mas havia sobretudo as mulheres, quais longas hastes altaneiras e torneadas, de uma beleza digna de se venerar, levando à cabeça as suas trouxas do mesmo modo que as flores arvoram as pétalas. Os pescoços assemelhavam-se a um colar de graça, os rostos respiravam doçura e firmeza, e os compridos pés descalços, escuros por cima, claros por baixo, eram de uma sensualidade capaz de nos transtornar os sentidos. Sob o céu de apocalipse, estas silhuetas finas e esquivas compunham o mais belo espectáculo que alguma vez contemplei.
- Sicamine, muito dinheiro! - galhofou o meu guia ao lado do motorista. Esfregava o indicador contra o polegar. Sorri e aquiesci. Tínhamos chegado diante de um Novotel, uma construção de reboco pardacento, exibindo varandas de madeira, sobranceada por árvores imensas. Gratifiquei o jovem negro em francos franceses e entrei no hotel. Paguei uma noite adiantada e troquei cinco mil francos franceses em francos CFA’, o suficiente para organizar a minha expedição à floresta. Conduziram-me ao meu quarto situado no rés-do-chão, junto a um grande pátio interior onde se recortava uma piscina no meio de jardins exóticos. Encolhi os ombros. Naquela estação das chuvas, o quadrado de água cor de turquesa fazia lembrar um simples dedal.
O meu quarto era decente: espaçoso e claro. A decoração era anónima, mas as suas cores - castanho, ocre, branco pareciam-me, não sei porquê, características de África. O ar condicionado ronronava. Tomei um duche e mudei de roupa. Decidi iniciar o inquérito. Vasculhei nas gavetas da secretária e descobri uma lista telefónica da RCA - um fascículo de umas trinta páginas. Marquei o número da sede da Sicamine.
Falei com um certo Jean-Claude Bonafé, director executivo. Expliquei-lhe que era jornalista, que tencionava realizar uma reportagem sobre os pigmeus. Ora, notara que algumas das explorações da companhia se situavam no território dos pigmeus akas. Poderia ajudar-me a ir até lá? Em África, a solidariedade entre brancos é um valor seguro. Bonafé acedeu logo a emprestar-me um carro que me pusesse na orla da floresta e delegou um guia seu conhecido. Mas também me avisou: era imperativo contornar as zonas da Sicamine. O seu director-geral, Otto Kiefer, vivia no local e ”não era um tipo fácil ...». A concluir, esclareceu num tom de confidência: ”Aliás, se Kiefer soubesse que eu o ajudei, ficaria em maus lençóis...».
Bonafé convidou-me em seguida a passar pelo seu gabinete, durante a manhã, para assentarmos nestes preparativos. Aceitei e desliguei. Fiz outros telefonemas a membros da comunidade francesa de Bangui. Era um sábado, mas toda a gente parecia trabalhar nesse dia. Falei a directores de mina,
1 CFA: Comunidade Financeira Africana. (N. do T)
responsáveis por serrações, homens da embaixada de França. Todos estes franceses desenraizados, gastos, esvaídos pelos trópicos, pareciam felizes por falar comigo. Orientando as perguntas, pude formar uma ideia precisa da situação e traçar um retrato completo de Otto Kiefer.
O checo dirigia quatro minas, disseminadas no extremo sul da RCA - onde começa o ”grande verde”, a imensa floresta equatorial que se estende na direcção do Congo, do Zaire e do Gabão. Trabalhava agora para o Estado centro-africano. Infelizmente, na opinião de todos, os filões estavam exauridos. A RCA já não produzia diamantes de grande qualidade, mas continuava-se a escavar - por simples formalidade. Quanto a mim, já se vê, tinha outra ideia sobre a ausência das pedras de valor.
Todos os meus interlocutores, sem excepção, me confirmaram a violência e a crueldade de Kjefer. Agora estava velho andava pelos sessenta anos -, mas mais perigoso do que nunca. Instalara-se na floresta profunda, a fim de poder vigiar melhor os seus homens. Ninguém suspeitava de que Kiefer era o número um dos traficantes. Se permanecia nas trevas vegetais, era para manobrar mais facilmente, para desviar as pedras brutas e enviá-las ao camarada Bõhm - por via das cegonhas.
Resolvi surpreender Kiefer no fundo da floresta, enfrentá-lo e segui-lo - segundo as circunstâncias - até ele partir em busca das cegonhas. Embora Bõhm tivesse morrido, era seguro que o checo não abandonaria o sistema dos correios. As cegonhas ainda não haviam chegado à República Centro-Africana. Dispunha, por conseguinte, de cerca de oito dias para apanhar Kiefer no coração das minas. Eram onze horas. Enfiei o meu colete e parti ao encontro de Bonafé.
A sede da Sicamine situava-se no sul da cidade. O trajecto de táxi durou uns quinze minutos, ao longo de avenidas avermelhadas que se estendiam à sombra de árvores gigantes. Em Bangui, em plena rua, podiam-se divisar verdadeiros troços de floresta rasgados por trilhos enormes e sangrentos, ou ainda edifícios em ruína devorados pela vegetação, como que espezinhados por uma manada de elefantes.
Os escritórios estavam instalados numa espécie de rancho de madeira, diante do qual se viam estacionados alguns 4 x 4 salpicados de laterite - a terra africana. Anunciei a minha presença no serviço de recepção. Uma mulher de ancas largas decidiu escoltar-me ao longo de um tabuado mal esquadriado. Segui o seu ágil saracoteio.
Jean-Claude Bonafé era um branco de estatura meã, bem fornecido de carnes, de uns cinquenta anos já calvos. Vestia uma camisa azul-celeste e umas calças de pano cru. À primeira vista, nada o distinguia de outro chefe de empresa francês. Nada, a não ser um intenso clarão de loucura no olhar. O homem parecia devastado no seu íntimo, consumido por uma tormenta cheia de gargalhadas e ideias dolorosas. Os olhos brilhavam-me como vidros e os dentes, compridos e biselados, assentavam no lábio inferior por entre um sempre eterno sorriso.
O homem não se confessava vencido face aos trópicos. Lutava contra a deliquescência tropical à força de pormenores, de pequenos retoques preciosos, de perfume parisiense.
- Tenho imenso prazer em conhecê-lo - avançou ele. já trabalhei no seu projecto. Arranjei um guia de confiança: o primo de um dos meus empregados, oriundo de Lobaye.
Sentou-se atrás da sua secretária, um bloco de madeira em bruto em cima da qual se erguiam, solitárias, umas estatuetas africanas, depois estendeu uma mão de unhas bem cuidadas na direcção de um mapa da República Centro-Africana, pregado na parede atrás dele.
- De facto - prosseguiu -, a parte mais conhecida da RCA é o Sul. Porque, além de haver Bangui, a capital, começa aqui a floresta densa, fonte de todas as riquezas. E também o território dos mbahas, os verdadeiros senhores do país. Bokassa pertencia a esta etnia. A região que lhe interessa ainda fica mais para lá, no extremo sul, a seguir a M’Baiki.
Bonafé indicava no mapa uma vasta mancha verde. Não se via qualquer sinal de estradas, pistas ou aldeias. Nada a não ser a cor verde. A floresta até ao infinito.
- É aqui - acrescenta ele - que a nossa mina está implantada. Mesmo acima do Congo. O território dos pigmeus akas. Os ”Negros Grandes” nunca lá vão. Borram-se todos.
Precisou-se uma imagem no meu espírito. Kjefer, Senhor das Trevas, estava ali melhor protegido do que por um exército a sério. As árvores, os animais e as lendas eram as suas sentinelas. Tirei o colete. O calor era sufocante. O ar condicionado não funcionava. Deitei uma mirada a Bonafé. O suor encharcava-lhe a camisa, mas nem por isso se calava:
- Quanto a mim, adoro os pigmeus. É um povo excepcional, cheio de alegria, de mistério. Mas a floresta é ainda mais extraordinária. - Os seus olhos exprimiam deslumbramento, os seus dentes talhados em bico entreabriam-se, denotando beatitude. - Sabe como funciona este universo, senhor Antioche? O Grande Verde bebe a sua vida na luz. Uma luz que chega a conta-gotas, através da canopeia’. - Formou um telhado com os dedos sapudos e baixou a voz como se confiasse um segredo. - Basta que uma árvore caia, e zás!, o sol coa-se por esse buraco. A vegetação capta os raios, cresce o mais depressa possível e preenche logo a lacuna. É fantástico. No chão, a árvore caída aduba a terra para dar origem a uma nova geração. E assim sucessivamente. A floresta é incrível, senhor Antioche. É um mundo intenso, formigante, devorador. Um universo em si mesmo, com os seus ritmos, as suas regras, os seus
1 Canopeia: camada superior das florestas tropicais. (N. do T)
habitantes. Milhares de espécies vegetais diferentes, de invertebrados e vertebrados pululam lá por baixo!
Eu contemplava Bonafé, com o seu rosto grotesco e ceroso plantado sobre uns ombros descaídos. Por mais que lutasse, o homem esbarrondava-se, cedia ao torpor dos trópicos.
- A floresta é... perigosa? Bonafé emitiu uma risada:
- Oh, lá isso é! - respondeu. - É bastante perigosa. Sobretudo os insectos. A maioria deles são portadores de doenças. Há os mosquitos, que transmitem paludismos endémicos, muito resistentes ao quinino, ou a dengue, que provoca febres altíssimas. Há os furros, cujas picadas produzem uma comichão atroz; as formigas, que destroem tudo à sua passagem; as filárias, que nos injectam filamentos nas artérias até as entupir completamente. Outras bicharias são verdadeiramente coriáceas, como as matacanhas que nos roem os tornozelos, ou as moscas-vampiras que nos sugam o sangue. Há ainda vermes muito particulares que nascem sob as nossas carnes. já tive vários no crânio. Sentia-os a escavar, a esgaravatar e a avançar sob o couro cabeludo. Também não é raro surpreendê-los a olho nu, caminhando sob as pálpebras do homem que está a falar-nos. - Riu-se. Parecia admirado com as suas próprias conclusões. - É verdade, a floresta encerra muitos perigos, Mas tudo isto se resume a acidentes, a excepções. Não se preocupe. A selva é maravilhosa, senhor Antioche. Maravilhosa...
Levantou o auscultador e falou em sango. Em seguida perguntou-me:
- Quando conta partir?
- Logo que possível.
- Tem aí a sua autorização?
- Que autorização?
As pupilas do homem arredondaram-se. Depois desatou outra vez a rir. Repetiu, batendo as mãos: - Que autorização?
- Tinha a cara banhada em suor. Puxou de um lenço de seda, ao mesmo tempo que explodia em pequenas gargalhadas. Explicou-se:
- Nunca poderá sair sem uma autorização ministerial.
A mínima pista, a mínima aldeia, tudo é vigiado por postos da
polícia. É assim mesmo! Estamos em África, e ainda somos governados por um regime militar. Além disso, estalaram recentemente distúrbios, greves... Tem de solicitar uma autorização ao Ministério da Informação e da Comunicação.
- Quantos dias irei esperar?
- Três, pelo menos, receio bem. Tanto mais que só na segunda-feira poderá efectuar o seu pedido. Por meu lado, posso recomendá-lo junto do ministro. É um mulato, meu amigo.
- Disse isto como se os dois factos estivessem ligados. - Vamos tentar acelerar os trâmites. Mas preciso de fotografias e do seu passaporte. - Dei-lhe de má vontade o que ele me pedia, tirando duas fotos de um visto inútil para o Sudão. - Assim que receber os seus papéis...
Bateram à porta. Entrou um negro maciço. O seu rosto era redondo, o nariz achatado e os olhos globulosos. A pele assemelhava-se a couro. Tinha uns trinta anos e envergava uma djellaba na qual dominava a tonalidade azul.
- Gabriel - disse Bonafé -, apresento-te Louis Antioche, um jornalista vindo de França. Desejava ir à selva, a fim de realizar uma reportagem sobre os pigmeus. julgo que podes ajudá-lo.
Gabriel olhou para mim. Bonafé elucidou-me:
- Gabriel é originário de Lobaye. Toda a sua família vive na orla da floresta.
O negro fitava-me com os seus olhos à flor do rosto, de sorriso ao canto dos lábios. O branco prosseguiu:
- Gabriel vai levar os seus papéis ao ministério, um dos primos dele trabalha lá. Assim que a autorização estiver pronta, porei um 4 x 4 à sua disposição.
- Muito obrigado.
- Não me agradeça. O carro não terá grande serventia. Trinta quilómetros depois de M’Baki começa a floresta. já não há pista a partir daí.
- E então?
- Deverá continuar a pé para alcançar as suas explorações. Pode contar com uns quatro dias de marcha.
- Não abriram estradas até à mina? Bonafé casquinou:
- Estradas! - Virou-se para o negro. - Estradas, Gabriel. Dirigiu-se de novo a mim. - Não me faça rir, senhor Antioche, nem lhe passa pela cabeça o que vai ter de enfrentar na selva. Bastam umas poucas semanas para a vegetação apagar a mais pequena pista. Há muito tempo que renunciámos a traçar veredas naquele caos de lianas. De resto, se porventura o ignora, os diamantes são um carregamento algo leve. Não há necessidade de camiões, nem de material específico. No entanto, dispomos de um helicóptero que efectua vaivéns regulares com a exploração. Mas não podemos fretar o aparelho só para si.
Insinuou-se-lhe um sorriso nos lábios, uma enguia a deslizar em águas turvas.
- Aliás, quando chegar à floresta profunda, é melhor não contar com o nosso pessoal. Os mineiros esfalfam-se a trabalhar. E Clément, o nosso contramestre, está caquético. Quanto a Kiefer, já o preveni: não se aproxime dele. Sendo assim, contorne a nossa mina e vá ter à Missão.
- Qual Missão?
- Mais adiante, na floresta, uma freira alsaciana instalou um dispensário. Trata e educa os pigmeus.
-Vive ali sozinha?
- Sim. Vem uma vez por mês a Bangui para encomendar o seu abastecimento: autorizamo-la a utilizar o nosso helicóptero. Depois desaparece novamente com os seus carregadores, durante um mês. Se procura o sossego, ficará encantado. Não se pode imaginar um sítio mais retirado. A irmã Pascale indicar-lhe-á os acampamentos akas mais interessantes. Acha que lhe será útil?
A selva intensa, uma freira protegida por pigmeus, Kiefer no coração da sombra. A loucura de África começava a pegar-se-me.
- Tenho um último pedido a fazer-lhe.
- Diga.
- Pode arranjar-me balas de 45, para uma pistola automática?
O meu interlocutor volveu-me um olhar de soslaio, como se quisesse apreender as minhas verdadeiras intenções. Deitou uma breve mirada a Gabriel e em seguida retorquiu:
- Não há problema.
Bateu na mesa com as palmas das mãos e voltou-se para o negro:
- Entendeste bem, Gabriel? Vais conduzir o senhor Antioche à orla da floresta, depois pedirás ao teu primo que o guie até à Missão.
O negro anuiu. Não tirara os olhos de mim. Bonafé falava-lhe como um mestre-escola aos seus alunos. Mas Gabriel parecia capaz de nos ludibriar num abrir e fechar de olhos. Sem esforço, numa pirueta do espírito. A sua inteligência pairava no calor tórrido, como um insecto matreiro. Agradeci a Bonafé e orientei de novo a conversa para Kjefer:
- Ouça lá, o seu director teve uma ideia muito esquisita. Ir assim instalar-se no fundo daquele vespeiro...
Bonafé riu-se outra vez:
- Isso depende do ponto de vista. A extracção de diamantes exige uma vigilância muito rigorosa. E Kiefer é do género que sabe tudo e dirige tudo.
Arrisquei mais uma pergunta:
- Conheceu Max Bõhm?
- O suíço? Pessoalmente, não. Cheguei depois de ele deixar a RCA, em 1980. Bõhm tinha a chefia da Sicamine antes do checo. Porquê? É das suas relações? Desculpe que lhe diga, mas, na opinião de toda a gente, Bõhm era ainda pior do que Kiefer. E olhe que este é mesmo mau. - Encolheu os ombros,
- O que quer, meu amigo: a África incita à crueldade.
- Em que condições é que Max Bõhm se foi embora?
- Não faço ideia. julgo que teve problemas de saúde. Ou desentendimentos com Bokassa. Ou ambas as coisas. A sério, não sei.
- Acha que o senhor Kiefer permaneceu em contacto com o suíço?
Foi uma pergunta a mais. Bonafé cravou em mim as pupilas. Cada íris parecia concentrar-se no âmago dos meus pensamentos. Não deu resposta. Esbocei um sorriso forçado e levantei-me. No limiar da porta, Bonafé repetiu, batendo-me nas costas:
- Não se esqueça, meu velho, nem uma palavra a Kiefer. Decidi caminhar à sombra das grandes árvores. O sol ia alto. A lama já estava seca aqui e além, esvoaçando como pigmentos purpurinos. As pesadas copas baloiçavam docemente, prenhes dos suspiros do vento.
De repente, senti uma mão no ombro. Voltei-me. Gabriel estava postado na minha frente, com o rosto arredondado por um sorriso. Disse sem demora, na sua voz grave:
- Patrão, interessas-te tanto pelos pigmeus como eu pelos cactos. Mas conheço alguém que pode falar-te de Max Bõhm e de Otto Kiefer.
O meu coração parou de bater: - Quem?
- O meu pai. - Gabriel baixou a voz. - O meu pai era guia de Max Bõhm.
Quando posso vê-lo?
Estará em Bangui amanhã de manhã.
Ele que vá imediatamente ao Novotel, ficarei à espera.Almocei à sombra, no terraço do hotel. Havia mesas dispostas em volta da piscina e podia-se saborear algum peixe do rio ao abrigo das plantas tropicais. O Novotel parecia deserto. Os raros clientes eram homens de negócios europeus, que ajustavam os seus contratos em passo de corrida e só aguardavam uma coisa: o avião de regresso. Pela minha parte, apreciava o hotel. O largo terraço, atapetado de pedra clara e cheio de folhagens, tinha a melancolia das casas coloniais abandonadas onde a vegetação desenhou rios de lianas e lagos de ervas daninhas.
Enquanto me deleitava com O Meu ”capitão”, ia observando o director do hotel que admoestava o jardineiro. Era um jovem francês de tez esverdinhada que dava a impressão de ter os nervos num feixe. Tentava endireitar um pé de rosa que o negro pisara por inadvertência. Sem os diálogos, a cena tinha ares de número cómico. A irritação do branco, os seus gestos exagerados e o rosto pesaroso do negro, que meneava a cabeça num jeito ausente: tudo fazia lembrar uma cena cómica de filme mudo.
Logo a seguir, o director veio desejar-me as boas-vindas, ao mesmo tempo que procurava conhecer a obscura razão que me trouxera à República Centro-Africana. Vi-lhe um ricto na face quando atentou na cicatriz do meu lábio. Falei-lhe dos projectos de reportagem que tinha em mente. Por seu turno, ele contou-me a sua história. Oferecera-se como voluntário para dirigir o Novotel em Bangui. Uma etapa essencial da sua carreira, segundo dizia - e parecia assim subentender que, a partir do momento em que se consegue dirigir qualquer coisa aqui, já nada se teme. Iniciou em seguida uma longa tirada sobre a incompetência dos africanos, o seu desleixo e os seus inúmeros defeitos. - Tenho de fechar tudo à chave - afirmava, agitando um pesado molho que trazia à cintura. - E não se fie nas suas atitudes aprumadas. É o fruto de um demorado combate. - O ”combate” do gerente consistia numa camiseta cor-de-rosa de manga curta, munida de um lacinho, que todos os empregados usavam como quem se entrega a uma brincadeira. - Mal saem do hotel - continuava ele -, voltam descalços para as cubatas e dormem no chão!
A cara do gerente tinha a mesma expressão que a de Bonafé. Era um desgaste, uma corrosão de um género estranho, como uma raíz que tivesse crescido no interior do corpo e se alimentasse do sangue dos homens. - A propósito - concluiu ele baixando a voz -, encontrou muitos lagartos no seu quarto?
Disse-lhe que não e calei-me para que me deixasse em paz. Depois do almoço, decidi-me a consultar a documentação que preparara em Paris sobre os diamantes e a cirurgia cardíaca. Percorri rapidamente os papéis que abordavam as pedras
- métodos de extracção, classificação, quilates, etc. Sabia agora muita coisa sobre a rede de Bõhm e os seus elos essenciais. As informações técnicas e os comentários especializados não podiam ajudar-me mais.
Passei ao capítulo da cirurgia cardíaca, composto de excertos de enciclopédias médicas. A história desta actividade era uma verdadeira epopeia, escrita por pioneiros temerários. Mergulhei assim noutras épocas:
... os primeiros Passos na cirurgia cardíaca foram dados em Filadélfia, graças a Charles Bailey. A sua intervenção inaugural sobre a válvula mitral data de finais de 1947. Redundou em malogro. O doente morreu de hemorragia. Todavia, Bailey tinha a certeza de que trilhava o caminho acertado. Os seus colegas não o poupavam. Recaíam sobre ele os qualificativos de louco e carniceiro. Bailey decidira esperar. Reflectia. Em Março de 1948 realizou uma valvulotomia no Wilminglon Memorial Hospital, cujo resultado parecia satisfatório. Ao terceiro dia, porém, o doente morreu de um erro de reanimação.
Para levar a cabo os seus projectos, Bailey teve de se tornar cirurgião itinerante e operar nos hospitais que tolerassem as suas intervenções. Em 10 de junho de 1948 operou duas constrições mitrais no mesmo dia. O primeiro doente morreu de paragem cardíaca antes dofim da intervenção. Charles Bailey dirígiu-se apressadamente para outro hospital antes que a notícia do insucesso fosse conhecida, receando que lhe proibissem a entrada na sala de operações. Aconteceu então o milagre: a segunda intervenção foi um êxito. A cirurgia da válvula mitral nascera finalmente...
Prossegui a leitura e detive-me nos primeiros transplantes cardíacos:
... Ao contrário do que reza uma lenda tenaz, não foi o cirurgião sul-africano Christian Neethling Barnard quem, a 3 de Dezembro de 1967, tentou o primeiro transplante cardíaco no homem: antes dele, em janeiro de 1960, o médico francês Pierre Sénicier implantara o coração de um chimpanzé no tórax de um doente de sessenta e oito anos chegado ao último estádio de uma insuficiência cardíaca irreversível. A operação foi bem sucedida. Mas o coração enxertado sófuncionou durante algumas horas...
Continuei a folhear:
... Uma das datas marcantes da cirurgia cardíaca corresponde ao transplante de coração efectuado em 1967 no Cabo pelo Professor Christian Barnard. A técnica desta operação, que em breve se aperfeiçoou nos Estados Unidos, em Inglaterra e em França, fora elaborada pelo professor americano Shumway - o método ”Shumway”...
... O Paciente, Louís Washkansky, tinha cinquenta e cinco anos. Ao longo de sete anos, sofrera três enfartes do miocárdio, o último dos quais o deixara em estado de insuficiência cardíaca definitiva. Durante todo o mês de Novembro de 1967, uma equipa de trinta cirurgiões, anestesistas, médicos e técnicos esteve reunida em permanência no hospital Groote Schuur, no Cabo, à espera da operação cuja hora e dia seriam fixados pelo professor Christian Barnard. A decisão foi tomada na noite de 3 para 4 de Dezembro: uma jovem de vinte e cinco anos acabava de morrer num acidente de viação. O seu coração substituiria o coração combalído de Louis Washkansky, Este sobreviveu três semanas, mas sucumbiu a uma pneumonia.
A quantidade maciça de drogas imunodepressivas absorvidas a fim de impedir a rejeição do transplante enfraquecera demasiado o seu sistema de defesa para lhe permitir lutar contra uma infecção...
Toda esta carne aberta e órgãos manipulados faziam-me sentir náuseas. No entanto, sabia que Max Bõhm ocupava um lugar em semelhante historial. O suíço trabalhara na África do Sul de 1969 a 1972. Imaginei explicações rocambolescas para o seu transplante. Talvez tivesse conhecido, no Cabo, Christian Barnard ou médicos do mesmo serviço. Talvez tivesse voltado lá depois do seu ataque de 1977, a fim de se submeter a um enxerto especial. Ou então, por uma razão que me escapava, sabia que um destes médicos, capazes de efectuar um transplante, se encontrava no Congo em 1977. Mas tais versões eram demasiado insólitas. E não resolviam o carácter ”miraculoso” da tolerância física de Bõhm.
Descobri uma passagem que analisava os problemas da tolerância:
No domínio da cirurgia cardíaca, os problemas cirúrgicos estão bem resolvidos e as dificuldades que persistem são de ordem imunológica. Defacto, Para além do caso excepcional constituído pelos gêmeos verdadeiros, o órgão do dador, mesmo que aparentado, é reconhecido pelo recebedor como diferente e será vítima de fenómenos de rejeição. Logo, é sempre necessário recorrer a tratamentos imunodepressores no recebedor Para limitar a grandeza da rejeição. Os tratamentos usuais (azatioprina, cortisona) são não específicos e comportam um certo número de riscos, em particular de infecção. Mais recentemente, nos anos oitenta, apareceu um produto: a ciclosporina. Esta substância, extraída de um cogumelo japonês, debela em profundidade os fenómenos de rejeição. Os pacientes vêem assim decuplicada a sua esperança de vida e tornou-se praticável generalizar os enxertos.
Outro meio de limitar a rejeição é, evidentemente, escolher um dador tão compatível quanto possível. A solução mais favorável é representada por um membro da fratria ou da família próxima, que, embora não sendo gémeo, Possua em comum com o recebedor quatro antigénios de histocompatibilidade HLA (dador HLA idêntico). Falamos aqui de órgãos não vitais, como por exemplo o rim. De outro modo, o órgão é escolhido num cadáver e tenta-se, por troca de órgãos a longa dístância, realizar a combinação mais compatível de entre todas
- existem mais de vinte mil grupos HLA diferentes...
Cessei a leitura. Eram dezoito horas. Lá fora já anoitecera. Levantei-me e abri ajanela do meu quarto. Uma onda de calor sufocou-me. Era a primeira vez que enfrentava a canícula tropical. Este clima não significava um facto anexo, uma circunstância entre outras. Era uma violência que agredia a pele, um peso que arrastava o coração e o corpo para profundezas difíceis de descrever - um amolecimento do ser em que a carne e os órgãos pareciam fundir-se e diluir-se lentamente nos seus próprios sucos.
Decidi-me por um passeio nocturno.
As longas avenidas de Bangui estavam vazias e os raros prédios, toscos e maculados de lama, pareciam ainda mais nus do que à luz do dia. Encaminhei-me para o rio. As margens do Ubangui mantinham-se em silêncio. Os ministérios e as embaixadas dormiam de um sono sem sonhos. Soldados, descalços, montavam guarda. Perto da água, na escuridão, distingui as cristas desgrenhadas das árvores que orlavam as margens. Por vezes, mais abaixo, fazia-se ouvir uma marulhada. Imaginava então algum enorme animal, meio-fera, meio-peixe, insinuando-se nas ervas húmidas, atraído pelos odores e pelos ruídos da cidade.
Continuei a andar. Desde que chegara a Bangui, aguilhoava-me uma ideia. Durante os meus primeiros anos, este país selvagem fora o ”meu país. Um ilhéu de selva onde crescera, brincara e aprendera a ler e a escrever. Por que teriam vindo os meus pais enterrar-se na região mais perdida de África? Por que haviam sacrificado tudo, fortuna, conforto, equilíbrio, por causa deste canto de floresta?
Nunca pensava no meu passado, nem nos meus falecidos pais e nestas zonas cegas da minha existência. A minha família não me interessava. Nem a vocação do meu pai, nem a devoção da minha mãe, que deixara tudo para seguir o esposo, nem mesmo esse irmão dois anos mais velho do que eu, atrozmente queimado vivo. De certo que uma tal indiferença era um refúgio. E eu comparava-a a miúde à insensibilidade das minhas mãos. Ao longo dos braços, a minha epiderme reagia perfeitamente. Depois, para lá deles, já não experimentava qualquer sensação precisa. Como se um obstáculo de madeira invisível separasse as minhas mãos do mundo sensível. Na minha memória produzia-se um fenómeno idêntico. Podia recuar no passado até à idade de seis anos. Mais além, era o nada, a ausência, a morte. As minhas mãos estavam queimadas. A minha alma também. E a minha carne e o meu espírito haviam cicatrizado da mesma maneira - estribando a sua cura no olvido e na insensibilidade.
De súbito estaquei. Saíra da beira do rio. Caminhava agora ao longo de uma grande avenida mal iluminada. Ergui os olhos e perscrutei a placa pregada num gradeamento, indicando o nome da artéria. Invadiu-me uma tremura dos pés à cabeça. Avenida de França. Sem me aperceber, os meus passos tinham-me guiado irresistivelmente até ao próprio local da tragédia - onde os meus pais haviam sido massacrados por um bando de assassinos tresloucados, numa noite de São Silvestre, em 1965.
No dia seguinte de manhã, tomava o pequeno-almoço à sombra de um guarda-sol quando uma voz me interpelou:
Senhor Louis Antioche?
Levantei os olhos. Um homem de uns cinquenta anos postava-se na minha frente. Era baixo e entroncado e vestia uma camisa e uns calções de caqui. Emanava dele um ar de autoridade indiscutível. Lembrei-me de Max Bõhm, da sua corpulência, do seu vestuário - os dois homens assemelhavam-se, A não ser que o meu interlocutor era negro como um guarda-chuva inglês.
- Sim, sou eu. Quem é você?
-Joseph M’Konta. O pai de Gabriel, da Sicamine. Levantei-me logo e ofereci-lhe uma cadeira:
- Claro, sei muito bem. Queira sentar-se.
Joseph M’Konta aceitou e depois juntou as mãos sobre a barriga. Lançava olhares curiosos em redor, com a cabeça metida nos ombros. Tinha a face espalmada, um nariz de amplas narinas, uns olhos húmidos, como que velados de ternura. Mas os seus lábios estavam crispados sobre um esgar de nojo.
- Quer beber alguma coisa? Café? Chá?
- Um café, obrigado.
M’Konta também me examinava pelo rabo do olho. Chegou o café. Após banalidades usuais, sobre o seu país, o calor e a minha viagem, Joseph atacou num tom precipitado:
- Procura informações acerca de Max Bõhm?
- Exactamente.
- Por que se interessa por ele?
- Max era meu amigo. Conheci-o na Suíça, pouco antes da sua morte.
- Max Bõhm morreu?
- Há um mês, de uma crise cardíaca. A notícia não pareceu espantá-lo.
- Ah, o relógio dele parou.
Calou-se e reflectiu; depois indagou: - O que pretende saber?
- Tudo. As suas actividades na República Centro-Africana, a sua vida quotidiana, os motivos por que se foi embora.
- Anda a efectuar um inquérito?
- Sim e não. Procuro conhecê-lo melhor, a título póstumo. Só isto.
M’Konta inquiriu, com um ar suspeitoso: - É polícia?
- De modo nenhum. Tudo o que disser, ficará entre nós. Dou-lhe a minha palavra.
- Está disposto a mostrar-se agradecido?
Interroguei-o com o olhar, M’Konta fez um gesto explicativo:
- Umas notas, quero eu dizer...
- Tudo depende do que puder dizer-me - repliquei.
- Conheci muito bem o velho Max...
Após uns minutos de regateio, acordámos um ”preço de amígo”. O homem passou então a tratar-me por tu. A sua locução era rápida. As palavras brotavam, rolando como berlindes no fundo da água:
- Patrão, Max Bõhm era um tipo patusco... Aqui, ninguém lhe chamava Bõhm... era NgakoIa... pai da magia branca...
- Por que lhe chamavam assim?
- Bõhm tinha poderes... Escondidos debaixo dos cabelos... os seus cabelos eram muito brancos... cresciam a direito para o céu... como um bosquezinho de cocos, percebes?... era graças a eles que tinha tanta força ... lia em cada homem. .. descobria os ladrões de diamantes ... sempre... ninguém podia resistir-lhe... ninguém... era um homem forte... muito forte... mas estava do lado da noite.
- O que pretendes dizer?
-Vivia nas trevas... o seu espírito... o seu espírito vivia nas trevas...
M’Konta bebeu um golinho de café.
- Como conheceste Max Bõhm?
- Em 1973... antes da estação seca... Max Bõhm chegou à minha aldeia, em Bagandu, na orla da floresta ... era enviado de Bokassa... vinha vigiar as plantações de café ... nessa época os ladrões pilhavam as culturas... em poucas semanas Bõhm dissuadiu-os.
- Como fez?
- Surpreendeu um ladrão, moeu-o de pancada, depois arrastou-o para o largo da aldeia... aqui, pegou num punção, um dos punções com os quais se planta o grão, e furou-lhe os dois tímpanos...
- E então? - balbuciei.
- Então... nunca mais ninguém roubou grãos de café em Bagandu.
- Estava acompanhado?
- Não... estava sozinho... Max Bõhm não receava ninguém.
Torturar um mbaka, sem apoio, no largo de uma aldeia da floresta. Bõhm não se assustava. joseph continuou:
- No ano seguinte, Bõhm voltou... desta vez vinha inspeccionar as minas de diamantes... sempre por conta de Bokassa... Os filões estendiam-se para lá da SCAD, uma grande serração na orla da selva... conheces a floresta densa, patrão? Não? Acredita no que te digo, ela é realmente densa... Mimou a canopeia com as suas grandes mãos; os seus ”r” rolavam como uma carga de cavalaria. - Mas Bõhm não tinha medo... Bõhm nunca tinha medo... queria ir para sul... procurava um guia... eu conhecia bem a floresta e os pigmeus... até falava a linguagem aka... Bõhm escolheu-me...
- Havia brancos nos terrenos de exploração?
- Só um... Clément... Um tipo completamente doido, que se casou com uma aka... Não tinha a mínima autoridade... era a anarquia total...
- Encontravam então belas pedras nesses filões?
- Os mais belos diamantes do mundo, patrão... bastava que nos debruçássemos sobre os riachos... Foi por isso que Bokassa enviou Bõhm... - M’Konta soltou um risinho agudo.
- Bokassa tinha a paixão das pedras preciosas!
Bebeu um novo trago de café e olhou para os meus croissants. Estendi-lhe o prato. Retomou assim a palavra com a boca cheia:
- Nesse ano, Bõhm ficou quatro meses... No começo armou-se em ”quebra-negros” ... Em seguida, reorganizou a exploração, mudou as técnicas ... Andava tudo na linha, podes crer ... Quando a estação das chuvas chegou, regressou a Bangui ... Depois, todos os anos, voltou de igual modo na mesma época... ”Visita de vigilância”, dizia-nos.
- Era então que utilizava o corta-cabos?
- Conheces a história, patrão?... No fundo, a história da tenaz foi exagerada. Só o vi fazer uma vez, no campo da Sicamine ... E não era para castigar um clandestino, mas um violador ... Um malandro que abusara de uma rapariguinha e a deixara já sem vida na selva.
- O que aconteceu?
O trejeito de nojo de M’Konta acentuou-se. Serviu-se de outro croissant.
- Uma coisa horrível. Absolutamente horrível. Dois homens mantinham o assassino deitado de costas, com as pernas no ar... os olhos dele fitavam-nos como os de um animal apanhado numa armadilha... soltava risinhos, custava-lhe a acreditar... Chegou então NgakoIa com a sua grande tenaz... abriu a pinça e fechou-a de um golpe seco sobre o calcanhar do ladrão... clac!... o tipo urrou ... outra tesourada, e pronto... os tendões estavam cortados ... vi os pés dele, patrão... parecia impossível... pendiam dos tornozelos... com os ossos a romper... sangue por todo o lado... revoadas de moscas... e o silêncio da aldeia... Max Bõhm estava de pé... não dizia nada... a camisa toda ensanguentada... o rosto muito branco, cheio de suor... É verdade, patrão, nunca mais me esquecerei disto... então, sem uma palavra, virou o homem com um pontapé, brandiu a tenaz e fechou-a no baixo-ventre do violador... Estalou-me uma veia na garganta.
- Bõhm era assim tão cruel?
- Era duro, sim... a seu modo. Mas agia com toda ajustiça... Nunca por sadismo nem por racismo.
- Max Bõhm não era racista? Não odiava os negros?
- Nem pensar. Bõhm era um velhaco, mas racista, nunca! NgakoIa vivia connosco e respeitava-nos. Falava sango e amava a floresta. E então a pachacha, não te digo nada...
- O quê?
- A pachacha. O sexo. Bõhm adorava a mulher negra. Agitava a mão, como se esta simples ideia o queimasse.
Voltei à carga:
- Bõhm roubava diamantes?
- Se roubava? O Bõhm? Nunca na vida... já te disse: Max era justo...
- Mas geria os tráficos de Bokassa, não é assim?
- Ele não via as coisas dessa maneira... a sua obsessão era a ordem, a disciplina... queria que tudo funcionasse sem uma falha nos campos... estava-se nas tintas para quem abarbatava os diamantes, quem ficava com o dinheiro... Não lhe interessava. A seus olhos, eram manejos lá dos negros...
Max Bõhm escondera bem o seu jogo ou começara o tráfico mais tarde?
-Joseph, sabias que Max Bõhm era um apaixonado por ornitologia?
- Estás a falar das aves? É verdade, patrão. - Deu uma gargalhada: um sabre claro no seu rosto. - Eu ia com ele observar as cegonhas.
- Onde?
- Em Bayanga, para lá da Sicamine, a oeste. As cegonhas chegavam ali aos milhares. Papavam os gafanhotos, os animalejos mais pequenos - riu-se. - Mas os habitantes de Bayanga papavam-nas por seu turno! Bõhm ia aos arames. Conseguiu que Bokassa mandasse criar um parque nacional. De uma só vez, vários milhares de hectares de florestas e savanas foram declarados intocáveis. Eu cá nunca percebi este género de coisas. A floresta é de toda a gente! Mas enfim, em Bayanga os elefantes, os gorilas, os antílopes e as gazelas estavam protegidos. E as cegonhas também.
O suíço lograra assim proteger as suas aves. Planeariajá utilizá-las para o tráfico? Pelo menos, a permuta era clara: os diamantes para Bokassa, as aves para Max Bõhm.
- Conhecias a família de Max Bõhm?
- Sim e não... Nunca víamos a mulher... sempre doente... -Joseph riu a bandeiras despregadas. - Uma mulher branca chapadinha! ... O filho era diferente... vinha às vezes connosco... não dizia nada... era um sonhador ... passeava pela floresta... NgakoIa esforçava-se por educá-lo ... obrigava-o a guiar o 4 x 4... mandava-o caçar, vigiar os prospectores na mina... queria fazer dele um homem ... mas ojovem branco ficava ali especado, distraído, assustado ... Um autêntico inútil...
O mais extraordinário era a semelhança física entre Philippe Bõhm e o pai... eram idênticos, patrão, podes crer... a mesma robustez, o mesmo corte de cabelo à escovinha, a mesma cara de bolacha... Mas Bõhm detestava o filho...
- Porquê?
- Porque o miúdo era medroso. E Bôhm não podia suportar esse medo.
- Em que sentido?
joseph hesitou, depois aproximou-se de mim e falou mais baixo:
- O filho era como um espelho, compreendes? O espelho do seu próprio cagaço.
- Acabas de me dizer que Bõhm não receava ninguém.
- Ninguém, a não ser ele mesmo.
Fixei os olhos húmidos de M’Konta.
- O seu coração, patrão. Tinha medo do seu coração. joseph pôs a mão no peito. - Receava que o relógio parasse de funcionar lá dentro... andava sempre a apalpar o pulso... Em Bangui, passava o tempo metido na clínica...
- Uma clínica em Bangui?
- Um hospital reservado aos brancos. A Clínica de França.
- Ainda existe?
- Mais ou menos. Agora está aberta aos negros e são médicos centro-africanos que dão consulta.
Passei à questão crucial:
- Participaste na última expedição de Bõhm?
- Não. Acabava de me instalar em Bagandu. já não ia à floresta.
- Mas sabes alguma coisa a tal respeito?
- Só o que se disse na altura. Em M’Baiki, essa viagem tornou-se uma lenda. Reteve-se o seu nome de código: PR 154, do nome do talhão que os prospectores deviam estudar.
- Para onde se dirigiram?
- Muito para lá de Zoko... A seguir à fronteira do Congo...
- E então?
- Durante o trajecto, NgakoIa recebeu um telegrama, trazido por um pigmeu ... a mulher dele acabava de morrer... Bõhm soube-o assim ... o coração não resistiu... tombou...
- Continua...
O trejeito de Joseph acentuara-se a ponto de os lábios se arreganharem. Repeti:
- Continua, Joseph.
Ele ainda hesitou, por fim suspirou:
- Graças aos seus acordos secretos com a floresta, NgakoIa ressuscitou... graças à magia, à Pantera que arrebata os nossos filhos...
Recordava-me das palavras de Guillard, relatadas por Dumaz. A narrativa de M’Konta coincidia com a versão do engenheiro. Havia ali o bastante para aterrorizar o mais ousado. Uma viagem ao coração das trevas, um mistério pavoroso, sob chuvas torrenciais, e aquele herói diabólico, o homem do cabelo branco, regressado do mundo dos mortos.
- Tenciono partir para a floresta, em busca das pegadas de Bõhm.
- É má ideia. A estação das chuvas está no auge. As minas de diamantes são hoje dirigidas por um só homem, Otto Kjefer, um assassino. Vais caminhar muito, correr riscos inúteis. Tudo isto para nada. O que contas fazer por lá?
- Quero descobrir o que sucedeu realmente em Agosto de 1977. Como Max Bõhm sobreviveu ao ataque cardíaco. Os espíritos não me parecem uma explicação suficiente.
- Fazes mal. Como vais fazer isso?
- Acho preferível evitar as minas e alojar-me em casa da irmã Pascale.
- A irmã Pascale? Não é muito mais meiga do que o Kiefer.
- Falaram-me de um acampamento pigmeu, Zoko, onde penso instalar-me. Daí, farei incursões até às minas. Interrogarei discretamente os homens quejá trabalhavam nos aguaçais em 1977.
Joseph abanou a cabeça e depois serviu-se de uma última chávena de café. Olhei para o meu relógio: passava das onze horas. Era domingo e eu não tinha o mais pequeno projecto para o resto do dia.
-Joseph - perguntei -, conheces alguém na Clínica de França?
- Um primo meu trabalha lá.
- Podemos ir agora?
- Agora? - Ele saboreava o café. - Tenho de visitar a minha família no quilómetro cinco e...
- Quanto?
- São mais dez mil francos.
Praguejei a sorrir, depois enfiei o dinheiro no bolso da sua camisa. M’Konta piscou o olho e pousou a chávena.
- Vamos, patrão.
A Clínica de França situava-se à beira do Ubangui. O rio corria devagarinho sob o sol ardente. Entrevíamo-lo através dos matagais, negro, imenso, imóvel. Fazia lembrar um xarope espesso, no qual estivessem enviscados os pescadores e as suas pirogas.
Caminhávamos pelas margens, no mesmo sítio por onde eu passeara na véspera. Árvores de tons pastel orlavam a pista. À direita erguiam-se os largos edifícios dos ministérios ocres, rosados, vermelhos. À esquerda, perto do rio, anichavam-se nas ervas barracas de madeira abandonadas pelos habituais vendedores de fruta, mandioca e bugigangas. Estava tudo calmo. Até a poeira renunciara a correr por entre a luz. Era domingo. E, como em toda a parte pelo mundo fora, este dia era maldito em Bangui.
Finalmente a clínica apareceu, um bloco quadrado de dois andares, da cor do abandono. A sua arquitectura colonial exibia varandas de pedra, rendilhadas por ornamentos de reboco esbranquiçado. Todo o edifício estava roído pela laterite e pela vegetação. Garras de floresta e manchas avermelhadas subiam ao assalto das paredes. A pedra dir-se-ia inchada, como que empanturrada de humidade.
Penetrámos nosjardins. Batas de cirurgião secavam ao sol suspensas das árvores. Os tecidos apresentavam-se maculados de nódoas violentas, escarlates. Joseph surpreendeu a expressão do meu rosto. Desatou a rir: - Não é sangue, patrão. É a terra: laterite. A sua marca nunca mais se apaga.
Encolheu-se para me deixar entrar. O átrio, de cimento bruto e linóleo escalavrado, estava completamente vazio. Joseph bateu no balcão. Passaram uns longos minutos. Por fim surgiu um tipo alto com uma bata estriada de traços vermelhos. juntou as mãos e inclinou-se:
- O que posso fazer por vós? - inquiriu num tom untuoso.
- Quero falar com Alphonse M’Konta.
- Não está ninguém, é domingo.
- E tu, não és ninguém?
- SouJésus Bomongo. - O homem tornou a inclinar-se e acrescentou na sua voz açucarada: - Ao seu serviço.
- O meu amigo gostaria de consultar os arquivos do tempo em que só havia aqui brancos. É possível?
- Bem, é a minha responsabilidade que fica em jogo e...
Joseph fez-me um sinal explícito. Negociei pró-forma e larguei mais dez mil francos CFA. joseph deixou-me. Segui o meu novo guia ao longo de um corredor de cimento mergulhado na escuridão. Subimos uma escada.
É médico? - perguntei.
Só enfermeiro. Mas aqui, é quase a mesma coisa. Depois de treparmos três andares surgiu um novo corredor, iluminado pela luz do sol que se coava através dos motivos perfurados na parede. Um cheiro intenso a éter enchia a atmosfera. Os compartimentos por que passávamos não abrigavam qualquer doente. Só uma desordem de material: cadeiras de rodas, grandes suportes metálicos, lençóis rosados, enxergas colocadas ao longo das paredes. Estávamos sob os forros da clínica. jésus pegou num molho de chaves e abriu uma porta de ferro, rangente e desengonçada.
Permaneceu no limiar da porta.
- As fichas médicas estão depositadas a esmo, acolá explicou. - Depois da queda de Bokassa, os proprietários fugiram. A clínica fechou durante dois anos e em seguida reabrimo-la para acolher centro-africanos; actualmente temos médicos nossos. Não encontrará muitos processos individuais. Só alguns raros brancos receberam tratamento em Bangui. Unicamente os casos de urgência que não podiam ser transferidos. Ou, pelo contrário, as doenças benignas. - Encolheu os ombros. - A medicina africana é uma verdadeira calamidade. Toda a gente sabe isso. Só nos safamos com os marabutos curandeiros.
Proferindo esta grande deixa, virou as costas e desapareceu. Fiquei sozinho.
A sala dos arquivos só continha algumas mesas e umas cadeiras esparsas. As paredes estavam escurecidas por compridos gotejamentos negruscos. Gritos longínquos atravessavam o ar em fusão. Descobri os arquivos num armário de ferro. Vi uns processos amarelados e carcomidos pela humidade amontoados sobre quatro prateleiras. Folheei-os e reparei que os tinham acumulado sem qualquer ordem. Reuni várias mesas de modo a formar um suporte e pousei os processos em pilhas, eram quinze pilhas, cada uma constituída por várias centenas de processos. Enxuguei os pingos de suor no rosto e iniciei a decifração.
De pé, curvado, examinei a primeira folha de cada processo. Podia ler o nome, a idade e o país de origem do paciente. Vinham em seguida a doença e os medicamentos receitados, Folheei assim várias centenas de processos. Nomes franceses, alemães, espanhóis, checos, jugoslavos, russos, e até chineses, desfilaram associados a toda a espécie de doenças que haviam alquebrado com febres ligeiras os frágeis estrangeiros, Paludismo, cólicas, alergias, insolações, doenças venéreas... De todas as vezes seguiam alguns nomes de medicamentos, sempre os mesmos, e, mais raramente, agrafado na folha, um pedido de repatriamento dirigido à embaixada de tutela. Sucediam-se as horas e as pilhas também. Às dezassete horas terminara a minha pesquisa, Nem uma só vez vira aparecer o nome de Bõhm, tão-pouco o de Kiefer. Mesmo aqui, o velho Max eliminara qualquer rastro.
Ressoaram passos atrás de mim. jésus vinha saber notícias.
- Então? - perguntou esticando o pescoço.
- Nada. Não encontrei o mínimo indício do homem que procuro. No entanto, sei que ele vinha regularmente a esta clínica.
- Como se chama?
- Bõhm. Max Bõhm.
- Nunca ouvi esse nome.
- Vivia em Bangui nos anos sessenta.
- Bõhm é alemão, não é?
- Suíço,
- Suíço? O homem que procura é suíço? - jésus soltou um riso agudo e bateu as mãos. - Um suíço. Devia ter dito logo. Não serve de nada procurar aqui, patrão. As fichas médicas dos suíços estão noutro lado.
- Onde? - impacientei-me.
Jésus compôs um ar melindrado. Ficou em silêncio durante uns segundos e depois espetou o indicador, comprido e fuselado:
- Os suíços são gente séria, patrão. Nunca devemos esquecê-lo. Quando a clínica fechou as portas, em 1979, foram os únicos que se preocuparam com as fichas médicas dos seus doentes. Temiam sobretudo que um dos nacionais regressasse à pátria cheio de micróbios africanos. - Ergueu os olhos para o céu, consternado. - Em suma, quiseram embarcar todos os processos individuais. O governo centro-africano recusou. Compreende, os doentes eram suíços, mas as doenças, essas eram africanas. Enfim, houve uma data de incidentes.
- E então? - atalhei, já farto.
- Oh, patrão, trata-se de um assunto mais ou menos confidencial. É o segredo do corpo médico que está em jogo e... Meti-lhe na mão outra nota de dez mil francos UA. Ele
retribuiu-me com um largo sorriso e continuou sem demora:
- As fichas estão armazenadas na embaixada da Itália. Havia uma probabilidade em cem de o velho Max ter ignorado esta peripécia, Jésus prosseguiu:
- O guarda da embaixada é meu amigo. Chama-se Hassan. A embaixada da Itália situa-se do outro lado da cidade e... Atravessei Bangui a bordo de um táxi sebento, a toda a brida. dez minutos mais tarde parava diante dos degraus da embaixada da Itália. Desta vez não me tardei em parlendas. Fui à procura de Hassan - um baixinho encarapinhado, com olheiras arroxeadas -, enfiei-lhe uma nota de cinco mil francos no bolso e arrastei-o contra vontade para o subsolo do edifício. Em breve me vi sentado numa grande sala de conferências, a contemplar quatro gavetas metálicas dispostas na minha frente: os arquivos médicos dos cidadãos helvéticos vindos à República Centro-Africana entre 1962 e 1979.
Estavam perfeitamente ordenados por ordem alfabética. Na letra B descobri os processos da família Bõhm. O primeiro era o de Max. Muito espesso, continha uma quantidade de receitas, análises, electrocardiogramas. Logo no dia 16 de Setembro de 1972, o ano da sua chegada, Max Bõhm viera à Clínica de França para um exame completo. O médico-chefe, Yves Carl, prescrevera-lhe sem demora um tratamento importado directamente da Suíça, recomendando-lhe ainda calma e esforços limitados. Na sua ficha confidencial, Carl escrevera a caneta, na oblíqua: ”Insuficiência do miocárdio. Deve ser vigiado de perto”. As últimas palavras estavam sublinhadas. O velho Max voltara então de três em três meses para lhe passarem as receitas. As doses de medicamentos amplificavam-se ao longo dos anos. Max Bõhm vivia, por assim dizer, em regime de pena suspensa. O processo terminava em julho de 1977, data na qual a receita prescrevia novos produtos, em doses maciças. Quando Bõhm partira para a selva no mês seguinte, o seu coração já não era mais do que um eco de si mesmo.
O processo de Irène Bõhm principiava em Maio de 1973. Cópias de exames médicos efectuados na Suíça abriam o conjunto dos documentos. O Dr. Carl contentara-se em seguir esta paciente acometida de uma infecção das trompas. O tratamento durara oito meses. A senhora Bõhm estava curada, mas uma ficha decretava: ”Esterilidade”. Irene Bõhm tinha então trinta e quatro anos. Dois anos mais tarde, o Dr. Carl diagnosticou a nova doença da esposa de Bõhm. O processo individual continha uma longa carta endereçada ao médico assistente de Lausana, explicando que era preciso realizar urgentemente novas análises. Carl não se perdia em rodeios: ”Possível cancro do útero”. Seguia-se uma diatribe contra os meios irrisórios das clínicas africanas. Em conclusão, Carl exortava o seu colega a convencer Irene Bõhm a espaçar as suas visitas à República Centro-Africana. O processo médico concluía-se assim em
1976, sem qualquer outra peça nem nenhum documento. Eu conhecia a continuação: em Lausana, as análises tinham revelado a natureza cancerosa do mal. A mulher preferira permanecer na Suíça, procurando tratar-se e esconder o seu estado ao marido e ao filho. Morrera um ano depois.
O pesadelo tornou-se palpável com o processo médico de Philippe Bõhm, filho do ornitólogo - encontrado em último lugar. Poucos meses após a chegada a criança contraíra febres.
Tinha dez anos. No ano seguinte sujeitara-se a um demorado tratamento contra as cólicas. Em seguida foram as amibas. Debelou-se um princípio de disenteria, mas ojovem Philippe contraiu um abcesso no fígado. Folheei as receitas. Em 1976 e
1977, o seu estado melhorava. As visitas à clínica espaçavam-se, os resultados das análises eram encorajadores. O adolescente tinha quinze anos. Todavia, o seu processo rematava com uma certidão de óbito, datada de Agosto de 1977, e um relatório de autópsia. Arranquei a folha amarfanhada, escrita de uma maneira muito aplicada. Estava assinada pelo ”Dr. Hippolyte M’Diaye, diplomado pela Faculdade de Medicina de Paris”. O que então li fez-me compreender que até ao momento me limitara a evoluir na antecâmara do pesadelo.
Relatório de autópsialI-Iospital de MBaiki, Lobaye
28 de Agosto de 1977
Sujeito: Bõhm, Philippe. Sexo masculino.
Branco, tipo caucasiano.
1,68 metros, 78 quilos. Nu.
Nascido em 819162. Montreux, Suíça.
Falecido por volta de 2418177, na floresta profunda, a cinquenta quilómetros de MBaiki, subprefeitura da Lobaye, República Centro-Africana.
O rosto está intacto, excepto umas marcas de unhadas nas faces e nas têmporas. No interior da boca há vários dentes partidos, outros simplesmente esboroados, provavelmente sob o efeito de um espasmo intenso da mandíbula (nenhum sinal de equimose exterior). A nuca está quebrada.
A face anterior do tórax revela uma ferida profunda, perfeitamente mediana, desde a clavícula esquerda até ao umbigo.
O esterno está seccionado longitudinalmente, a todo o comprimento, abrindo assim o tórax. Distinguimos igualmente numerosas marcas de garras, que correm ao longo do torso, designadamente em torno da ferida principal. Os dois membros superiores foram amputados. Os dedos da mão esquerda estão partidos, o indicador e o anelar da mão direita foram arrancados.
A cavidade torácica revela a ausência do coração. Ao nível da cavidade abdominal há o desaparecimento ou a mutilação de vários órgãos: intestino, estÔmago, pâncreas. Perto do corpo encontraram-se fragmentos orgânicos com marcas de uma dentadura animal. Nenhum sinal de hemorragia na cavidade torácica.
Entalhe muito largo (sete centímetros) por baixo da virilha direita, atingindo o osso do colo do fémur. O pênis, os órgãos genitais e o alto das coxas fOram arrancados. Numerosas marcas de garras nas coxas. Face externa da coxa direita e da coxa esquerda rasgadas. Fracturas complexas dos dois tornozelos.
Conclusão: ojovem Philippe Bõhm, de nacionalidade suíça, foi atacado por um gorila aquando da expedição PR 154 que efectuava ao lado do pai, Max Bõhm, próximo da fronteira do Congo. As marcas de garras não deixam qualquer dúvida. Certas mutilações sofridas pela jovem vítima são igualmente características do animal. O gorila costuma arrancar a face externa das coxas e quebrar os tornozelos das suas vítimas afim de evitar toda a possibilidade de fuga. Parece que o macaco responsável pelo crime, um velho macho que vagueava há várias semanas naquela região, foi abatido mais tarde por uma família de pigmeus alças.
Nota: o corpo é transportado para a Clínica de França, Bangui, hoje à tarde. junto segue uma cópia do meu relatório e da certidão de óbito, para informação do Dr Yves Carl. 28 de Agosto de 1977. 10:15.
Nesse instante, o tempo parou. Ergui os olhos e contemplei a sala imensa e vazia. Apesar do suor que me estriava o rosto, sentia-me gelado. O relatório de autópsia de Philippe Bõhm assemelhava-se ao de Rajko Nicolitch, a ponto de nos induzir em erro. Por duas vezes, com treze anos de intervalo, tinham matado e haviam roubado o coração da vítima, fazendo crer que se tratava de um crime animal. No entanto, aquem desta descoberta medonha, eu compreendia o núcleo secreto do destino de Max Bõhm - o que se passara nas trevas da selva durante a expedição PR 154: tinham enxertado o coração do filho no corpo do pai.
Nem sempre a noite é boa conselheira. Naquela segunda-feira, 16 de Setembro, levantei-me num grande estado de perturbação. O meu sono não fora mais do que uma longa tormenta habitada pelos sofrimentos do jovem Philippe Bõhm. Continuava petrificado pelo horror do destino de Max Bõhm, que sacrificara o seu próprio filho para sobreviver. Mais do que nunca, estava convencido de que a minha demanda dos diamantes se bifurcava numa vereda mais profunda, na esteira de assassinos de excepção - aos quais o velho Max se achava ligado por laços de sangue.
Bebi o chá na varanda do meu quarto. Às oito e trinta retiniu a campainha do telefone. Ouvi a voz de Bonafé:
- Antioche? Pode agradecer-me, meu velho. Consegui falar com o ministro este fim-de-semana. A sua autorização espera-o desde já em cima da mesa do secretário-geral do ministério. Vá lá imediatamente. Ponho à sua disposição um dos nossos carros, logo à tarde, às catorze horas. O Gabriel conduzi-lo-á e explicar-lhe-á o que deve levar no tocante a comida, prendas, material, etc. última coisa: dar-lhe-á um saco de cem cartuchos, mas mantenha-se discreto neste ponto. Boa sorte.
Desligou. Chegara assim o grande dia. A floresta esperava por mim.
Umas horas mais tarde ia já a caminho num Peugeot 404 breque - que substituíra o 4 x 4 previsto - guiado por Gabriel, que ostentava uma T-shirt na qual se podia ler: ”Sida.
Eu protejo-me. Uso preservativo”. Nas costas estava desenhado um mapa da República Centro-Africana enfiado num preservativo.
Um destacamento militar barrou-nos a estrada à saída de Bangui. Soldados em desalinho, de rostos maus e metralhadoras empoeiradas, mandaram-nos parar. Explicaram-nos que iam ”proceder a uma verificação dos nossos documentos de identidade e efectuar uma revista formal ao veículo”. Gabriel dirigiu-se logo ao casinhoto de controlo com o passaporte e a autorização na mão. Dois minutos depois já estava cá fora e a barreira era erguida. As vias da administração africana eram insondáveis. A partir deste instante, a paisagem adquiriu uma cor fluorescente. As árvores e as lianas irromperam a perder de vista, envolvendo a estrada de alcatrão. - É a única estrada alcatroada da República Centro-Africana - esclareceu Gabriel. - Leva a Berengo, o antigo palácio de Bokassa. - O sol amenizara-se, o vento provocado pela velocidade vinha carregado de perfumes brandos e suaves. Cruzávamo-nos com seres orgulhosos que caminhavam à beira do asfalto com essa graça que só pertence aos negros. As mulheres cortavam-me novamente a respiração. Tantas flores solitárias, altas e ágeis, deambulando cheias de naturalidade por entre as ervas desmedidas...
Cinquenta quilómetros mais adiante surgiu uma segunda barreira. Penetrávamos na província da Lobaye. Gabriel negociou outra vez a nossa passagem. Apeei-me do carro. O céu toldara-se. Imensas nuvens de cor violácea viajavam lá em cima. Nas árvores pipilavam cachos de pássaros, parecendo temer a aproximação da trovoada. Reinava aqui uma agitação fervilhante. Camiões estacionados, homens a beber lado a lado ao longo de balcões improvisados, mulheres sentadas no chão a vender toda a espécie de mercadorias.
A maior parte delas ofereciam lagartas vivas, velosas e coloridas, que se retorciam e enlaçavam no fundo de largas tinas. As mulheres agachadas diante da sua colheita incitavam à compra gritando numa voz esganiçada: - Patrão, é a época das lagartas. A época da vida, das vitaminas...
De súbito rebentou a trovoada. Gabriel sugeriu-me que fôssemos tomar chá em casa dos seus irmãos muçulmanos. Instalámo-nos sob uma varanda de acaso e bebi o meu primeiro chá autêntico, em companhia de homens de djellabas brancas que envergavam a pequena barretina típica. Durante vários minutos, olhei, escutei e admirei a chuva. Era um encontro, um colóquio íntimo que deixava no coração um gosto de amizade, de encanto, de benevolência.
- Gabriel, conheces um certo Dr. M’Diaye em M’Baiki?
- Claro que sim, é o presidente da prefeitura. - E acrescentou: - Devemos fazer-lhe uma visita de cortesia. M’Diaye tem de assinar a tua licença.
Meia hora mais tarde, a chuva cessara. Pusemo-nos de novo a caminho. Eram dezasseis horas. Gabriel tirou do porta-luvas um saco de matéria plástica cheio de balas escuras e bojudas. Meti imediatamente dezasseis cartuchos no carregador e introduzi-o na coronha da Glock 21. Gabriel não fez qualquer comentário. Observava-me pelo canto do olho. Usar uma pistola automática na floresta não tinha nada de assombroso. Em contrapartida, era a primeira vez que ele via uma arma assim tão leve, de estalidos discretos e fluidos.
Entrámos em M’Baiki. Era um conjunto de barracas de terra e chapa, dispostas em pequenos bairros díspares no flanco de uma colina. Lá no alto pontificava uma grande moradia em tons azuis deslavados. - A casa do Dr. M’Diaye - segredou Gabriel. O nosso carro encaminhou-se para o portão.
Penetrámos numjardim caótico onde se emaranhavam lianas e folhas gigantes. Surgiram logo crianças. Espreitavam-nos por detrás das árvores, divertidas. A casa assemelhava-se a uma relíquia colonial. Muito ampla, abrigada por um comprido telhado de chapa enferrujada, poderia ser magnífica, mas parecia deixar-se morrer sob as chuvas sucessivas e as escaldaduras do sol. Cortinas rasgadas faziam as vezes de portas e janelas.
M’Diayc esperava em frente da porta principal, com os olhos avermelhados.
Depois dos cumprimentos habituais, Gabriel lançou-se num longo preâmbulo recheado de ”senhor presidente” e explicações complicadas a propósito da minha expedição. M’Diaye escutava, de olhar vago. Era um homem pequenino, de ombros descaídos, com a cabeça coberta por um chapéu de palha encharcado. O rosto era inexpressivo e o olhar ainda mais inexpressivo. Encontrava-me ali na presença de um espécime coriáceo de bêbedo africano, já razoavelmente grogue. Por fim convidou-nos a entrar.
A sala grande estava mergulhada na sombra. Ao longo das paredes ressumbravam goteiras que rumorejavam na obscuridade. Devagar, muito lentamente, M’Diaye tirou uma caneta de uma gaveta a fim de assinar a minha autorização. Pelo cortinado de uma outra porta, enxerguei o pátio interior onde uma mulher negra muito gorda, de seios oblongos, preparava uma massa pululante de lagartas. Empalava as larvas em raminhos talhados em espeto que pousava com delicadeza sobre as brasas. Os filhos corriam e rodopiavam em volta dela. M’Diaye ainda não assinara. Dirigiu-se a Gabriel:
- A floresta é perigosa nesta época.
- Sim, senhor presidente.
- Há os animais selvagens. Os trilhos são maus.
- Sim, senhor presidente.
- Não sei se posso autorizar-vos a partir assim...
- Sim, senhor presidente.
- Em caso de acidente, como poderei ajudar-vos?
- Não sei, senhor presidente.
Fez-se silêncio. Gabriel adoptara um ar atento de bom aluno. M’Diaye abordou a questão essencial:
- Preciso de algum dinheiro. De uma caução, a fim de poder ajudar-vos em caso de necessidade.
Era fantochada a mais.
- M’Diaye, gostaria de lhe dar duas palavras. É um assunto importante.
O presidente olhou na minha direcção. Parecia descobrir-me só agora.
- Um assunto importante? - O seu olhar flutuou por instantes no compartimento. - Vamos então beber qualquer coisa.
- Aonde?
- No café. Aqui atrás da casa.
A chuva recomeçara a cair lá fora, ténue e langorosa. M’Diaye levou-nos para uma baiuca. O chão era em terra batida e caixotes virados serviam de mesa. M’Diaye pediu uma cerveja, Gabriel e eu uma soda. O presidente pousou em mim o seu olhar extenuado:
- Sou todo ouvidos.
Ataquei sem mais preâmbulos: - Lembra-se de Max Bõhm?
- Quem?
- Há quinze anos, um branco que fiscalizava as minas de diamantes.
- Não estou a ver.
- Um homem atarracado, duro e cruel, que aterrorizava os operários e vivia na floresta.
- Não. Garanto.
Bati na mesa. Os copos saltaram. Gabriel olhou-me cheio de pasmo.
- M’Diaye, o senhor ainda era jovem. Acabava de obter o seu diploma de médico. Assinou a autópsia de Philippe Bõhm, o filho de Max. Não pode ter-se esquecido assim. O rapaz fora desmembrado, o corpo dele estava coberto de feridas, o coração desaparecera. Li todos estes pormenores na sua certidão, M’Diaye. Tenho-a aqui, assinada pela sua mão.
O doutor não deu resposta. Os seus olhos fixaram-me. Pegou no copo, às cegas, sem cessar de me observar. Levou a cerveja à boca e bebeu devagar, em pequenos tragos. Reparou na coronha da Glock sob o meu casaco. Os outros clientes do bar saíram.
- Concluiu por um ataque de gorila. Sei que mentiu. Encobriu um crime, sem dúvida em troca de dinheiro, no dia 28 de Agosto de 1977. Responda, doutor de uma figa!
M’Diaye virou a cabeça, fitando a nesga de céu que se recortava na porta, e levou novamente a bebida aos lábios. Saquei da Glock e encostei-a à cara do beberrão. Ele desequilibrou-se e caiu contra a parede de chapa. O chapéu voou. Estilhas de vidro incrustaram-se-lhe na carne. A gengiva, de um róseo vivo, apareceu através da sua face lacerada. Gabriel tentou refrear-me, mas repeli-o. Agarrei M’Diaye e meti-lhe o cano da arma nas narinas:
- Bandalho! - berrei. - Ocultaste um crime com as tuas mentiras. Deste cobertura a assassinos de crianças, tu... M’Diaye agitou molemente um braço:
- Eu... vou falar. - Olhou para Gabriel e disse numa voz pastosa: - Deixa-nos sozinhos...
O negro sumiu-se. M’Diayc apoíou-se contra a parede ondulada. Sibilei:
- Quem encontrou o corpo?
- Eles... eram vários...
- Quem?
O bêbedo tardava em responder. Encostei-lhe mais a arma.
- Os brancos... uns dias antes...
Dei uma folga, mantendo o cano da Glock à altura das narinas.
- Uma expedição... Iam à procura de filões de diamantes, na floresta.
- Eu sei, a PR 154. Quero nomes.
- Havia Max Bõhm. O seu filho, Philippe Bõhm. E ainda outro branco, um africânder. Não sei como se chamava.
- Mais ninguém?
- Sim. Ia também Otto Kiefer, o homem de Bokassa.
- Otto Kiefer pertencia à expedição?
- Sim... sim...
Vislumbrei de repente um novo vínculo: Max Bõhm e Otto Kiefer estavam ligados não só pelo interesse dos diamantes, mas também por aquela noite selvagem. O presidente limpou a boca. O sangue escorria-lhe para a camisa. Prosseguiu:
- Os brancos vieram aqui a M’Baiki e depois dirigiram-se para a SGAD.
- E em seguida?
- Não sei. Uma semana mais tarde voltou o branco alto, o sul-africano, sozinho.
- Deu explicações?
- Nenhuma. Regressou a Bangui. Nunca mais o vimos. Nunca mais...
- E os outros?
- Dois dias depois apareceu Otto Kiefer. Veio ver-me ao hospital e disse-me: ”Tenho um cliente para ti na camioneta”. Era um corpo, santo Deus, um corpo de branco, com o torso aberto. As tripas saíam por todo o lado. Ao cabo de uns momentos, reconheci o filho de Max Bõhm. Kiefer disse-me: ”Foi um gorila que o atacou. Tens de fazer a autópsia”. Comecei a tremer dos pés à cabeça. Kiefer deu um berro e disse-me: ”Faz a autópsia, porra! E não te esqueças: foi um gorila que fez isto”. Iniciei o trabalho no bloco operatório.
- E então?
- Kiefer voltou uma hora mais tarde. Eu estava cheio de medo. Ele aproximou-se e perguntou-me: ”Já acabaste?”. Disse-lhe que não fora um gorila que matara Philippe Bõhm. Mandou-me calar a boca e puxou de uns maços de francos franceses, notas de quinhentos, novinhas em folha, ainda a estalar. Começou a encafuá-las no torso aberto do cadáver. Meu Deus, nunca me hei-de esquecer daquele dinheiro a nadar nas vísceras. Ele disse: ”Não te peço que contes trapalhices”, e continuava a enfiar as notas novas. ”Basta que confirmes tratar-se do ataque desalmado de um gorila”. Quis replicar, mas ele foi-se logo embora. Deixara dois milhões na ferida aberta. Apanhei o dinheiro e lavei-o. Depois redigi o relatório, como me tinham pedido.
O sangue ardia-me nas veias. M’Diaye continuava a fitar-me com os seus olhos aguados. Apontei-lhe novamente a arma ao rosto e ciciei:
- Fala-me do cadáver.
- Os ferimentos... eram demasiado finos. Não se tratava de marcas de garras, como escrevi. Eram as marcas de um bisturi. Não tenho qualquer dúvida. E, sobretudo, o coração havia desaparecido. Quando penetrei na cavidade torácica, notei imediatamente a excisão das artérias e das veias. Um trabalho de profissional. Compreendi que tinham roubado o coração dojovem branco.
- Continua - insisti numa voz trémula.
- Fechei o corpo e acabei o relatório. ”Ataque de gorila”. Caso encerrado.
- Por que não inventaste uma morte mais simples? Uma crise de paludismo, por exemplo.
- Impossível. O Dr. Carl estava em Bangui e o corpo teria de passar por ele.
- O que é feito desse Dr. Carl?
- Morreu. O tifo ceifou-o há dois anos.
- Como terminou a história de Philippe Bõhm?
- Não sei.
- Na tua opinião, quem efectuou aquela operação mortífera?
- Não faço ideia. Só posso adiantar que foi um cirurgião.
- Tornaste a ver Max Bõhm?
- Não, nunca mais.
- Ouviste falar de um dispensário na floresta, do outro lado da fronteira com o Congo?
- Não. - M’Diaye cuspiu sangue e limpou a boca a uma manga. - Nunca vamos para aí. Há as panteras, os gorilas, os espíritos... É o mundo da noite.
Desviei a arma. M’Diaye baqueou. Tinham acorrido homens e mulheres, aglutinando-se às janelas da baiuca. Ninguém ousava entrar. Gabriel sussurrou de entre a multidão:
- É melhor levá-lo ao hospital, Louis. E ir buscar um médico.
M’Diaye soergueu-se num cotovelo:
- Qual médico? - chasqueou. - O médico sou eu. Olhei-o cheio de desprezo. Ele vomitou um longo corrimento vermelho. Dirigi-me aos negros que observavam este espectáculo funesto:
- Tratem dele, porra!
Foi M’Diaye quem interveio: - E o gasóleo? - gorgolejou. Que gasóleo?
É preciso pagá-lo, para ter electricidade lá no hospital. Atirei-lhe à cara um maço de francos CFA e virei costas.
Rodámos durante várias horas numa pista acidentada e lamacenta. O dia declinava. Uma espécie de chuva seca, amassada em poeira, abatia-se sobre o pára-brisas. Por fim, Gabriel perguntou:
- Como conhecias aquela história acerca do branco?
- É um caso muito antigo, Gabriel. Não vale a pena falar mais nele. Podes pensar o que quiseres, mas só vim aqui para realizar uma reportagem sobre os pigmeus. É o meu único objectivo.
Abriu-se à nossa frente uma larga vereda orlada de palhotas. Surgiu uma aldeia da SCAD. À direita, ao longe, estendiam-se os edifícios da serração. Gabriel abrandou. Atravessámos uma turba de homens e mulheres revestidos de pó vermelho, cujos corpos roçavam a carroçaria do veículo num rumor seco. A violência das cores e das sensações esgotava-me.
Apareceram edifícios de cimento em bruto lá ao fundo da aldeia. Gabriel explicou-me: - Eis o antigo dispensário da irmã Pascale. Podes dormir aqui esta noite, antes de abalar para a floresta amanhã de manhã.
As pequenas casamatas abrigavam leitos de campanha recobertos de plástico e envolvidos em altos mosquiteiros - o suficiente para passar uma noite suportável. Mais adiante, a pista vermelha continuava enquadrada pela floresta profunda que acabava por erguer uma verdadeira muralha. Mal se discernia a estrada, cuja trajectória se dissipava naquele abismo.
Gabriel e alguns outros descarregaram o material. Por meu lado, estudei o mapa da região que Bonafé me dera. Em vão.
Não havia qualquer vereda na direcção que eu pretendia seguir. A SCAD era o último ponto inscrito, mesmo antes da floresta densa que se espraiava ao longo de pelo menos quinhentos quilómetros para sul. A aldeia da serração parecia colocada em equilíbrio à beira de um imenso precipício de lianas e vegetação.
De súbito ergui os olhos. Rodeavam-me uns homens estranhos. O seu tamanho não ia além de um metro e cinquenta. Envergavam andrajos, T-shirts imundas e camisas rasgadas. A sua pele era clara, cor de caramelo, e os seus rostos sorriam-nos com doçura. Gabriel ofereceu-lhes logo cigarros. Explodiram risos. O negro alto explicou-me: - Os akas, patrão, os pig meus. Vivem aqui ao lado, em Zumia, uma aldeia de palhotas.
Apareceram algumas mulheres. Andavam de seios nus, tinham a barriga redonda e a cintura cingida por uma faixa de folhagem ou tecido. Traziam os filhos a tiracolo e ainda se riam mais do que os homens. Aceitaram por sua vez os cigarros e começaram a fumar cheias de entusiasmo. Todas estas mulheres usavam o cabelo muito curto. Distinguiam-se nestes penteados uns tesouros de requinte. Uma delas exibia na nuca desenhos em dentes de serra. Uma outra, dois sulcos ao longo das fontes, enquanto as suas sobrancelhas estavam estriadas a ponteado. Sobre a pele viam-se marcas, cicatrizes empoladas que partiam em curvas, arabescos e figuras ligeiras. Outro pormenor deixou-me gelado por dentro: todos estes pigmeus tinham os dentes talhados em bico.
Gabriel apresentou-me o primo, Beckés, que ia guiar-me até Zoco. Era um grande negro filiforme que vestia um conjunto desportivo com as cores da Adidas e não largava os óculos de sol. Dava mostras de uma calma pasmosa. Mimoseou-me com um largo sorriso e marcou-me encontro no dia seguinte de manhã, ali mesmo, às sete horas - sem mais comentários.
Gabriel seguiu-o. Queriajantar ”em família”, na SCAD. Pedi-lhe que voltasse ao dispensário oito dias mais tarde. Anuiu, piscou o olho e desejou-me boa sorte. Senti um nó na garganta quando ouvi o motor do seu Peugeut a afastar-se.
Em breve escureceu. Uma mulher preparou ojantar. Engoli a minha parte de mandioca - uma espécie de visco acinzentado a cheirar a excrementos - e depois resolvi dormir no telhado do dispensário. Enfiei-me no meu saco de algodão, ao relento. Esperei assim, de olhos abertos, que o sono chegasse. Daí a poucas horas iria descobrir a floresta densa. O Grande Verde. Pela primeira vez desde o início da minha aventura, confesso que o medo me assediava. Um medo tão tenaz quanto a surda chiadeira dos animais desconhecidos que me desejavam as boas-vindas lá do fundo da selva.
Beckés apareceu mesmo às sete horas do dia seguinte. Bebemos juntos um chá. Ele falava um francês muito limitado, entremeado de silêncios e de ”bons” meditativos. No entanto, conhecia perfeitamente a selva do sul. Segundo dizia, a pista que se abria à nossa frente, escavada pelos bulldozers da serração, só durava um quilómetro. Em seguida, era preciso meter por veredas estreitas. Através de tais caminhos, podíamos alcançar Zoko em três dias de marcha. Concordei sem fazer a mínima ideia do que podia significar semelhante maratona.
A equipa formou-se. Beckés recrutara cinco pigmeus para transportarem o nosso carregamento, cinco pequenos homens esfarrapados, fumantes e sorridentes, que pareciam dispostos a seguir-nos até ao fim das trevas. Também contratara uma cozinheira, Tina, uma jovem mbaka de beleza perturbante. Bamboleava-se no seu bubu torneado e levava à cabeça uma enorme panela que continha os utensílios de cozinha e os seus objectos pessoais. A moça não parava de rir. A expedição parecia deslumbrá-la.
Distribuí cigarros e expus as grandes linhas da viagem. Beckés traduzia para sango. Falei apenas da expedição a Zoko e não referi a continuação do meu projecto. Da aldeia pigmeia, tencionava ir sozinho até às minas de Otto Kiefer, que se situavam a poucos quilómetros a sudeste. Repeti que a viagem não duraria mais de uma semana e depois perscrutei demoradamente a pista avermelhada. O fiozinho de terra perdia-se lá no infinito, num monstruoso entrelaçamento de árvores e lianas. A equipa pôs-se em marcha.
A selva era uma verdadeira necrópole, uma mistura de existência encarniçada e aniquilamento profundo. Por toda a parte, cepos carcomidos, árvores desabadas e odores a podridão assemelhavam-se aos derradeiros sobressaltos de uma vida de excessos. Caminhar na floresta era evoluir nesta perpétua agonia, nesta melancolia de perfumes, neste rancor de musgos e charcos. Por vezes o sol assomava, pintalgando a profusão exuberante de folhas e lianas, que pareciam despertar e contorcer-se ao seu contacto, como corpos ávidos a saciarem-se na súbita luz. A floresta tornava-se então num fantástico viveiro, num desenfreio de crescimento tão poderoso e apressado que parecia que o ouvíamos a rumorejar sob os nossos passos.
Todavia, eu não experimentava qualquer sentimento de opressão. A floresta era também um mar imenso, dilatado, infinito. Através dos altos troncos enlaçados de lianas, através dos bosquezitos suspensos, das miríades de folhas, através deste gigantesco rendilhado que se assemelhava às nossas florestas europeias, era uma liberdade extraordinária que imperava por toda a parte. Mal-grado os gritos, mal-grado as árvores, a floresta dava uma impressão de grande espaço arejado. É evidente que tal solidão não passava de uma miragem. Nem um milímetro estava desabitado. Tudo ali formigava e se atropelava.
No entender de Beckés, cada animal ocupava um território específico. A clareira formada pela queda de uma árvore era o refúgio dos porcos-espinhos. As matas inextricáveis, pejadas de lianas, eram habitadas pelos antílopes. Quanto às chapadas descobertas, aí se alojavam e cantavam as aves todo o dia, desafiando a chuva.
Por vezes, quando jorrava uma grasnadela ou um silvo, superando todos os outros, eu perguntava a Beckés: - Que grito é este?
Ele reflectia por uns instantes e respondia: É a formiga.
A formiga?
Tem asas, um bico e caminha sobre a água. - Encolhia os ombros. - É a formiga.
Beckés tinha uma visão particular da floresta equatorial. Como todos os mbakas, pensava que a selva era habitada por espíritos, forças poderosas e invisíveis que mantinham secretas cumplicidades com os animais selvagens. Aliás, os centro-africanos não falavam dos animais como o faria um europeu. A seus olhos, tratava-se de seres superiores, pelo menos iguais aos homens, que era indispensável temer e respeitar, e aos quais se atribuíam sentimentos e poderes secretos. Assim, Beckés só falava ”da” Gorila em voz baixa, com receio de ”a” vexar, e contava como à noite a Pantera podia quebrar o vidro dos candeeiros servindo-se apenas do olhar.
Os aguaceiros começaram no primeiro dia. Foi um derramamento ininterrupto que se tornou num elemento constante da viagem, no mesmo plano que as árvores, os pipilos dos pássaros ou as nossas próprias febres. Estas torrentes não proporcionavam qualquer frescura e só entravavam a nossa expedição - a terra aprofundava-se e abria autênticos trilhos sob os nossos passos. Mas toda a gente continuava, como se a cólera do céu não pudesse atingir-nos.
Cruzámo-nos, neste dilúvio, com caçadores mbakas. Traziam às costas cestos estreitos dentro dos quais a sua caça vinha bem apertada: gazelas de pelagem ocre, macacos aconchegados como lactentes, papa-formigas prateados e de escamas raiadas. Os Negros Grandes trocavam connosco um cigarro, um sorriso, mas o seu rosto estava alterado por uma onda de inquietude. Esforçavam-se por alcançar o norte, a orla, antes da noite. Só os ahas ousavam desafiar a escuridão e ignorar os espíritos. Ora, a nossa pequena tropa descia para sul - qual blasfémia em marcha.
Todas as tardinhas montávamos o nosso acampamento ao abrigo da chuva. De repente, às seis horas, a noite descia e os pirilampos alumiavam-se, revoluteando incansavelmente por entre as árvores. Comíamos um pouco mais tarde, sentados no chão à roda da fogueira emitindo ruídos de animais esfomeados.
Eu não falava, cogitando no objectivo secreto da minha viagem. Em seguida entrava na minha tenda e permanecia assim, ao abrigo, escutando as gotas de chuva a esmagar-se contra o pano do tecto duplo. Nesses momentos, voltava-me para o silêncio e reflectia no curso trágico da minha aventura. Lembrava-me das cegonhas, dos países que atravessara como um meteoro e do caudal de violência que rebentava sob os meus passos. Experimentava a sensação de subir o curso de um rio de sangue, cuja nascente iria descobrir em breve - ali, onde Max Bõhm roubara o coração do seu filho; ali, onde três homens, Bõhm, Kiefer e van Dõtten, tinham concluído um pacto diabólico, assente em diamantes e cegonhas. Também pensava em Sarah. Sem remorsos nem tristeza. Noutras circunstâncias, talvez tivéssemos construído a nossa existência juntos.
Confesso que o meu pensamento ia igualmente para Tina, a nossa cozinheira. Durante a caminhada, não podia coibir-me de lhe lançar olhares furtivos. Tinha um perfil de rainha, um pescoço subido que desembocava num queixo curto e depois se expandia em amplas maxilas aureoladas por lábios espessos, sensuais e suaves. Mais acima cintilava-lhe o olhar, à sombra de uma fronte abaulada. No crânio liso alçavam-se tranças, semelhantes a chifres de antílope. Ela surpreendera repetidas vezes as minhas miradas. Desatara a rir e a sua boca desabrochara como uma flor de cristal para murmurar:
- Não tenhas medo, Louis.
- Não tenho medo - respondera eu num tom firme antes de me concentrar nos altos e baixos da vereda.
Ao terceiro dia ainda não avistáramos a sombra de um paradeiro pigmeu. O céu já não era mais do que uma recordação e a fadiga começava a esvair-nos os músculos como elásticos já gastos. Mais do que nunca, assaltava-me o sentimento de descer na vertical a um poço profundo da Terra, de me afundar na própria carne da vida vegetal - sem esperança de retorno.
Todavia, a 18 de Setembro, ao entardecer, uma árvore em chamas interceptou o nosso trajecto. Um braseiro rubro no oceano vegetal. Era o primeiro sinal de uma presença humana desde a nossa partida. Aqui, alguns homens tinham preferido queimar este tronco gigante antes que ele se abatesse sob o peso das bátegas. Por entre a chuva torrencial, Beckés voltou-se e disse-me, com um sorriso nos lábios: -já falta pouco.
O acampamento de Zoko erguia-se no meio de uma larga clareira perfeitamente circular. Choupanas de folhas e cabanas de laterite rodeavam o grande terreiro pelado como um deserto. Coisa curiosa, o solo, as paredes
e as cúpulas de folhagem já não exibiam as cores da floresta -
O verde e o vermelho -, mas um ocre duro, como se alguém tivesse raspado até à crosta da selva. Zoko era uma verdadeira brecha talhada nos emaranhados do mundo vegetal.
Reinava aqui uma grande agitação. As mulheres voltavam da apanha, sobraçando pesadas alcofas entrançadas, repletas de frutos, grãos e tubérculos. Os homens chegavam por outros carreiros, trazendo macacos e gazelas a tiracolo, ou então compridas redes. Um pesado fumo azulado circulava em volta das choupanas até se ligar em volutas e elevar-se no centro do acampamento. Nesta atmosfera turva - a chuva cessara há pouco - discerniam-se as famílias diante das choças, a alimentar os fogos de fumaça acre. - Técnica pigmeia - segredou-me Beckés. - Para enxotar os insectos. - Ouviram-se cantos.
Longas melopeias agudas, quase tirolesas, espirais sonoras que utilizavam a voz como uma corda infinitamente sensível e que já nos tinham acolhido quando enxergáramos a árvore em chamas. Os akas comunicavam assim, à distância, ou exprimiam simplesmente o seu regozijo.
Um Negro Grande veio ao nosso encontro. Era Alphonse, o mestre-escola, o ”proprietário” dos pigmeus de Zoko. Insistiu para que nos instalássemos antes do anoitecer numa clareira vizinha, mais reduzida, onde se erguia um alpendre de aproximadamente dez metros de comprido. A sua família estava já acampada aí. Montei a minha tenda mesmo ao pé, enquanto os meus companheiros fabricavam enxergas de palmas. Pela primeira vez nos últimos dois dias, encontrávamo-nos a seco.
Alphonse não cessava de discorrer, falando do ”seu” feudo, apontando ao longe cada elemento do povoado pigmeu.
- E a irmã Pascale? - perguntei. Alphonse alçou as sobrancelhas:
- Refere-se ao dispensário? Fica na outra ponta da aldeia, por detrás das árvores. Não o aconselho a ir lá esta noite. A irmã não está contente.
- Não está contente?
Alphonse virou costas e repetiu simplesmente:
- Nem um bocadinho.
Os carregadores acenderam o lume. Abeirei-me e sentei-me num minúsculo banquinho em forma de selha. Afogueira crepitava e exalava um forte cheiro a ervas molhadas. Os vegetais, prisioneiros das chamas, pareciam arder a contragosto. De súbito fez-se noite, uma noite habitada por irrupções húmidas, correntes frescas, pios de aves. Sentia no fundo do meu ser uma espécie de apelo, de sopro, como que a doçura de uma fresta ali mesmo ao pé do coração. Ergui os olhos e compreendi esta sensação nova. Por cima de nós abria-se um céu claro, crivado de estrelas. já não via o firmamento há quatro dias.
Foi então que ressoaram os tambores. Não pude conter um sorriso. Era tão irreal - e simultaneamente tão previsível. Nas profundezas da selva, ouvíamos bater o coração do mundo. Beckés levantou-se e resmungou: - Há festa aqui ao lado, Louis. Temos de ir. - Atrás dele, Tina dava gargalhadas e meneava os ombros. Um minuto depoisjá estávamos à beira do terreiro.
Distinguíamos as crianças akas a correr na penumbra em todas as direcções. Em frente das cubatas de terra, rapariguinhas cingiam a cintura de saias de ráfia. Alguns rapazes empunhavam zagaias e esboçavam passos de dança, para logo pararem no meio de risos. As mulheres voltavam dos bosquezitos confinantes, com as ancas engalanadas de folhas e ramos. Os homens pousavam um olhar divertido nesta animação, fumando os cigarros que Beckés distribuíra. E o tambor retumbava sem descanso, acicatando os frenesins vindouros.
Alphonse acorreu com uma lamparina na mão. - Quer ver dançar os pigmeus, patrão? - bichanou-me ele ao ouvido.
- Siga-me. - Fui atrás dele. Instalou-se num tamborete perto das cubatas e colocou a lamparina no chão, um pouco à frente. Assim, os corpos dos pequenos fantasmas apareceram nitidamente. A sua sarabanda rasgava a noite, cor de fogo e delírio.
Os akas dançavam em dois círculos distintos. De um lado os homens e do outro as mulheres. Elevava-se da ronda uma melopeia surda: Aria mama, aria mama... As vozes confundidas, roucas e graves, eram às vezes atravessadas por uma dissonância infantil saída do tumulto. A7ia mama, aria mama... À luz da lâmpada, vi passar primeiro as mulheres, as barrigas redondas, as pernas ágeis. Ramalhetes de folhas. Logo a seguir surgiram os homens. Sob o clarão do petróleo, os corpos cor de caramelo passaram ao vermelho, ao ruivacento, e por fim ao cínzeo. As saias de ráfia vibravam fora de tempo, envolvendo as ancas num véu convulso. Aria mama, aria mama...
Os martelamentos do tambor amplificaram-se, O homem que o percutia estava todo curvado, de cigarro metido nos lábios. Batia pondo em jogo toda a força dos seus músculos e espetando o pescoço como uma águia. Reprimi um arrepio.
Os seus olhos, absolutamente brancos, refulgiam na noite. Alphonse desatou a rir: - Um cego. Só um cego, o melhor dos músicos. - Pouco depois juntaram-se-lhe outros tocadores. O ritmo desdobrou-se e encheu-se de ecos e contrapontos, até construir um canto da terra, vertiginoso e irresistível. Novas vozes se lançaram e reuniram, entretecendo-se sobre o fundo de Aria mama, aria mama... A magia erguia-se como uma fluorescência sonora sob o céu estrelado.
As mulheres passaram outra vez diante da lamparina, em fila indiana; cada uma delas segurava os quadris da precedente e avançava assim, seguindo a cadência. Pareciam aflorar e afagar o ritmo. Os seus corpos pertenciam às trepidações dos tambores, tal como o eco pertence ao grito que o provoca. Tinham-se transformado numa ressonância pura, numa vibração de carne. Voltaram os homens. Agachados, de mãos no solo, indo e vindo como um pêndulo - subitamente tornados animais, espíritos, elfos...
- O que estão eles a festejar? - perguntei aos berros para cobrir o tambor.
Alphonse olhou-me de soslaio. O seu rosto fundia-se com a sombra:
- Uma festa? Diga antes um luto. Uma família do sul perdeu a sua filhinha. E dançam hoje ao lado dos seus irmãos de Zoko. É o costume.
- De que morreu ela?
Alphonse abanou a cabeça, gritando ao meu ouvido:
- É horrível, patrão. Verdadeiramente horrível. Gomun foi atacada pela Gorila.
Um véu vermelho cobriu a realidade.
- O que sabem do acidente?
- Nada. Boma, o mais velho do acampamento, é que a descobriu. Gomun não voltara nessa noite. Os pigmeus organizaram buscas. Temiam que a floresta se tivesse vingado.
- Vingado?
- Gomun não respeitava a tradição. Recusava casar-se. Queria continuar a estudar junto da irmã Pascale, em Zoko.
Os espíritos não gostam que se faça troça deles. Por isso é que a Gorila a atacou. Toda a gente sabe: a floresta vingou-se.
- Que idade tinha Gomun?
- Quinze anos, creio.
- Onde vivia ela exactamente?
- Num acampamento do sudeste, ao pé das minas de Kiefer.
O martelamento das peles insinuava-se no meu espírito. O cego desenfreava-se, darde ando os seus olhos de leite na obescuridade. Gritei:
- É tudo o que podes dizer-me? Não sabes mais nada? Alphonse fez uma careta. Os seus dentes brancos surgiram sobre o fundo róseo da garganta. Esconjurou a minha insistência com a mão:
- Deixa lá, patrão. Esta história é má. Muito má.
O mestre-escola fez menção de se levantar. Peguei-lhe no braço. O suor pingava-me do rosto:
- Pensa bem, Alphonse.
O negro esbravejou:
- Que mais queres patrão? Que a Gorila volte? Ela arrancou os braços e as pernas de Gomun. Varreu tudo à sua passagem. Os arbustos, as lianas, a terra. Queres que ela te ouça? Que nos despedace a nós também?
O mbaka levantou-se de um pulo, arrebatando a sua lamparina com um gesto furioso.
Os pigmeus continuavam a dançar, imitando agora uma lagarta gigante. O tambor do cego acelerava. E o meu coração acompanhava-o. A série dos homicídios inscrevia-se no meu espírito em nomes e datas de sofrimento. Agosto de 1977: Philippe Bõhm. Abril de 1991: Rajko Nicolitch. Setembro de
1991: Gomun. Tinha a certeza de que o coração da menina fora extirpado. Um pormenor surgiu na minha consciência. Alphonse dissera: ”Varreu tudo à sua passagem. Os arbustos, as lianas, a terra”. Vinte dias antes, na floresta de Sliven, o cigano que descobrira Rajko esclarecera: ”Na véspera, deve ter havido uma tempestade dos diabos. De facto, naquele sítio todos os arbustos estavam deitados, com a folhagem em desalinho”.
Como era possível que não tivesse compreendido mais cedo? Os ladrões de coração viajavam de helicóptero.
Às cinco horas a manhã raiou. A floresta ressoava de gritos amortecidos. Não pregara olho de noite. Cerca das duas horas, os akas haviam terminado a cerimónia.
Eu permanecera na sombra e no silêncio, sob o alpendre de palmas, a contemplar as últimas brasas que irradiavam os seus cambiantes rosados na escuridão. Não sentia medo algum. Só uma fadiga esmagadora, e uma estranha sensação de calma, quase de segurança. Como se me encaminhasse agora ao encontro do corpo de um polvo cujos tentáculos já não pudessem atingir-me.
Começaram as primeiras chuvadas do dia. Primeiro um leve tamborilar, depois uma descarga mais espessa, mais regular. Levantei-me e dirigi-me para Zoko.
já ardiam fogueiras diante das cubatas. Avistei umas mulheres que remendavam uma comprida rede, sem dúvida destinada à caçada do dia. Atravessei o terreiro e entrevi por detrás das palhotas uma larga construção de cimento encimada por uma cruz branca. A toda a roda estendiam-sejardíns e uma horta. Dei uns passos até à porta entreaberta. Um Negro Grande barrou-me a passagem com ar hostil. - A irmã Pascale já acordou? - perguntei. Antes de o homem poder responder-me, veio uma voz de lá do interior: - Entre, não tenha medo.
- Era uma voz autoritária, que não admitia réplica. Obedeci.
A irmã Pascale não usava touca. Envergava simplesmente um pulôver e uma saia pretos, condizentes entre si. O cabelo era curto, de um cinzento austero. O rosto, apesar de um grande número de rugas, tinha essa intemporalidade das pedras e dos rios. Os olhos de um azul gélido assemelhavam-se a chispas de aço sobressaindo da vasa dos anos. Os ombros eram largos e as mãos imensas. Logo à primeira vista, compreendi que a mulher estava à altura de enfrentar os perigos da floresta, as doenças lancinantes e os caçadores bárbaros.
- O que pretende? - inquiriu sem olhar para mim.
Vi-a sentada, a pôr pacientemente manteiga em fatias de pão, e ao lado uma tigela de café.
O compartimento achava-se praticamente vazio. Só uma banca de cozinha e um frigorífico encostados à parede do fundo. Um Cristo de madeira, pendurado, passeava em volta o seu olhar de supliciado.
- Chamo-me Louis Antioche - disse. - Sou francês. Percorri milhares de quilómetros para obter respostas a certas perguntas. julgo que pode ajudar-me.
A irmã Pascale continuava a barrar as suas fatias. Era pão amolecido, húmido, conservado o menos mal possível. Observei a sua brancura deslumbrante, que surgia ali, em plena floresta, como um tesouro improvável. A irmã surpreendeu o meu olhar.
- Desculpe. Estou a ser indelicada. Sente-se, por favor. E partilhe do meu pequeno-almoço.
Puxei de uma cadeira. Lançou-me uma olhadela que apenas exprimia indiferença.
- De que perguntas se trata?
- Quero saber como morreu a pequena Gomun.
A interrogação não a espantou. Retorquiu, pegando numa cafeteira a ferver:
- Café? Ou prefere chá?
- Chá, se não se importa.
Faz um sinal ao boy que estava especado na sombra, interpelando-o em sango. Alguns segundos mais tarde já eu respirava o aroma acidulado de um Dajeeling anónimo. A irmã Pascale retomou a palavra:
- Interessa-se então pelos akas.
- Não - respondi soprando a bebida. - Interesso-me pelas mortes violentas.
- Porquê?
- Porque várias vítimas desapareceram da mesma maneira, nesta floresta e noutros sítios.
- O seu inquérito incide sobre os animais selvagens?
- Sim, é de certo modo sobre os animais selvagens.
A chuva não parava de rumorejar por cima das nossas cabeças. A irmã Pascale molhou uma fatia no café. A polpa macia do pão amoleceu ao tocar no líquido. Com uma dentada seca, apanhou a extremidade que ameaçava desfazer-se. Não havia nela nada que traísse o assombro perante as minhas afirmações. Mas uma estranha ironia despontava sob a sua fala. Tentei romper este jogo do duplo sentido.
- Irmã, sejamos claros. Não acredito numa única palavra dessa história de gorilas. Não tenho a mínima experiência da floresta, mas sei que os gorilas não abundam aqui na região. julgo que a morte de Gomun pertence a uma série de crimes específicos que ando a investigar.
- jovem, não entendo nada do que me conta. Antes de mais, é melhor explicar-me quem é e o que o traz a estas paragens. Estamos a mais de cento e cinquenta quilómetros de Bangui. Teve de viajar durante quatro dias para atingir este buraco na selva. Adivinho que não é um militar do exército francês, nem um engenheiro de minas, nem sequer um prospector independente. Se espera a minha colaboração, aconselho-o a explicar-se.
Resumi o meu inquérito em poucas palavras. Falei das cegonhas e dos «acidentes» que haviam assinalado o meu caminho. Falei da morte de Rajko, estraçalhado por um urso selvagem. Mencionei o fatal ataque de gorila a Philippe Bõhm. Descrevi as circunstâncias destes desaparecimentos - comparando-os ao de Gomun. Não referi o roubo dos corações. Não falei, tão-pouco, do sistema dos diamantes nem do tráfico. Desejava apenas despertar a atenção da freira para todas estas coincidências.
A missionária cravava agora em mim os seus olhos azuis incrédulos. A chuva continuava a bater na chapa do telhado.
- A sua história não tem pés nem cabeça, mas vou ouvi-lo até ao fim. Quais são as suas perguntas?
- O que sabe das circunstâncias da morte de Gomun? Viu o corpo?
- Não. Ficou enterrado a vários quilómetros daqui. Gomun pertencia a uma família nómada que andava mais a sul. Falaram-lhe do estado do corpo?
É mesmo indispensável abordar esse assunto? É essencial.
Gomun tinha um braço e uma perna arrancados. O torso estava coberto de feridas, de rasgões. O peito encontrava-se aberto e a caixa torácica reduzida a migalhas. Os animais selvagens tinham começado a devorar os órgãos.
- Que animais?
- Porcos selvagens, feras, sem dúvida. Os akas falaram-me de marcas de garras no pescoço, nos seios e nos braços. Como saber? Os pigmeus enterraram a pobre miúda no seu acampamento e depois abandonaram o local para sempre, como manda a tradição.
- O corpo apresentava outros sinais de mutilação?
A irmã Pascale sustinha a tigela. Hesitou e em seguida largou os bordos da tigela. Apercebi-me de que as suas mãos tremiam ligeiramente. Baixou a voz.
- Sim... - Hesitava. - O sexo estava exageradamente aberto.
- Quer dizer que a violaram?
- Não. Falo de uma ferida. As extremidades da vagina pareciam ter sido ampliadas à unhada. Os lábios foram rasgados de par a par.
- O interior do corpo estava intacto? Quero dizer: desapareceram órgãos específicos?
- Repito-lhe que alguns órgãos estavam meios-devorados. É tudo o que sei. A pobre rapariga ainda não fizera quinze anos. Deus tenha a sua alma em descanso.
Calou-se. Ateimei:
- Que género de adolescente era Gomun?
- Muito estudiosa. Seguia as minhas lições com atenção. Esta rapariga voltara as costas à tradição aka. Queria continuar a estudar, ir para a cidade, trabalhar junto dos Negros Grandes. Recentemente, até recusara casar-se. Os pigmeus pensam que os espíritos da floresta se vingaram de Gomun. Por isso é que dançaram tanto ontem à noite. Desejam reconciliar-se com a floresta. Eu própria não posso permanecer aqui mais tempo. Devo regressar à SGAD. Murmura-se que Gomun morreu por minha causa.
- Não parece muito aflita, irmã.
- Precisa de conhecer melhor a floresta. Vivemos com a morte. Ela ataca regularmente, cegamente. Há cinco anos, ensinei em Bagu, outra aldeia não longe daqui. Em dois meses morreram sessenta dos cem habitantes. Epidemia de tuberculose. A doença fora ”importada” pelos Negros Grandes. Outrora, os pigmeus viviam ao abrigo dos micróbios, protegidos pela abóbada vegetal que a floresta densa constitui. Hoje, são dizimados pelas doenças vindas do exterior. Necessitam de gente como eu, de cuidados, de medicamentos. Executo o meu trabalho e evito reflectir.
- Gomun passeava muitas vezes sozinha na floresta? Afastava-se do acampamento?
- Era uma rapariga solitária. Gostava de andar pelas veredas com os livros debaixo do braço. Gomun adorava a floresta, os seus perfumes, os ruídos, os animais. Neste sentido, era uma verdadeira aka.
- Deambulava pelas redondezas das minas de diamantes?
- Não sei. Por que mo pergunta? Não desiste dessa ideia fixa de homicídio! É ridículo. Quem podia querer mal a uma pequena aka que nunca saíra da selva?
- Irmã, chegou a altura de lhe revelar outra coisa. Falei-lhe do assassinato de Rajko na Bulgária. Aludi ao de Philippe Bõhm, em 1977, aqui mesmo. Estes assassínios têm uma particularidade comum.
- Qual?
- Em ambos os casos, os criminosos retiraram o coração da vítima, segundo os métodos consagrados em tal género de operação.
- Puras histórias. Semelhante operação é inconcebível num meio natural.
A irmã Pascale conservava o sangue-frio. Os seus olhos mantinham-se reluzentes e frios, mas as pestanas batiam rapidamente.
- No entanto, é estritamente verdade. Conheci o médico que realizou a autópsia do cigano na Bulgária. Não há a mínima dúvida sobre a operação. Estes homicidas dispõem de meios colossais, que lhes permitem intervir em qualquer sítio e em condições óptimas.
- Sabe o que isso significa?
- Sim: um helicóptero, geradores, uma tenda pressurizada, e decerto outros equipamentos... Em todo o caso, nada de insuperável.
- E então? - atalhou a missionária. - Acha que a pequena Gomun...
- É uma certeza quase absoluta.
A irmã acenou negativamente com a cabeça, a contrapasso das gotas que tombavam no telhado. Desviei o olhar e observei o arvoredo pelo vão da porta. A floresta parecia ébria de chuva.
- Ainda não acabei, irmã. já lhe referi o ”acidente” sobrevindo na floresta centro-africana em 1977. Vivia na RCA. nessa época?
- Não, estava nos Camarões.
- Naquele ano, no mês de Agosto, Philippe Bõhm foi encontrado morto na floresta, um pouco mais abaixo, no Congo. Verificou-se a mesma violência, a mesma crueldade, o mesmo desaparecimento do coração.
- Quem era? Um francês?
- Era o filho de Max Bõhm, um suíço que trabalhava não longe daqui, nas minas de diamantes, das quais já ouviu falar sem dúvida. Resolveram levar o corpo para M’Baiki, onde foi efectuada uma autópsia no hospital. Concluiu-se por um ”ataque de gorila”. Mas obtive a prova de que a certidão de óbito havia sido ditada. Ocultaram certos sinais essenciais que mostravam que a operação era de origem humana.
- Como pode estar assim tão certo?
- Encontrei o médico que realizou a autópsia. Um centro-africano, um clínico chamado M’Diaye.
A irmã deu uma gargalhada:
- M’Diaye é um bebedolas!
- Na época não bebia.
- Aonde pretende chegar? O que lhe disse M’Diaye sobre a intervenção? Quais são os sinais de crime humano? Debrucei-me e ciciei:
- Esternotomia. Marcas de bisturi. Excisão perfeita das artérias.
Fiz uma pausa e observei a irmã Pascale. A sua pele cinzenta palpitava. Levou a mão à têmpora.
- Meu Deus... porquê tamanhos horrores?
- Para salvar um homem, irmã. O coração de Philippe Bõhm foi enxertado no corpo do seu próprio pai. Max Bõhm acabava de sofrer um terrível enfarte, poucos dias antes.
É monstruoso... impossível...
Irmã, acredite no que lhe digo. Recolhi anteontem o testemunho de M’Diaye. Bate certo com o que eu ouvi em Sófia, a propósito de Rajko. Estes depoimentos traçam o retrato de uma mesma loucura assassina, de um mesmo sadismo. Um sadismo estranho, pois estou convencido de que também permite salvar vidas humanas. Gomun foi vítima destes homicidas.
A irmã Pascale sacudiu a cabeça, com a mão na testa.
- É louco, completamente louco... Não tem qualquer prova a respeito da pequena Gomun.
-Justamente, irmã. Preciso de si.
A missionária fixou-me com brusquidão. Perguntei logo:
- Possui conhecimentos cirúrgicos?
Continuava a olhar para mim, sem entender. Respondeu:
- Trabalhei em hospitais de guerra, no Vietname e no Camboja. Qual é a sua ideia?
Desejo exumar o corpo e efectuar uma autópsia. É demente!
Irmã, tenho de verificar as minhas suposições. Só posso contar com a sua ajuda, ninguém mais pode dizer-me se os órgãos do corpo de Gomun sofreram uma intervenção cirúrgica ou se a menina foi atacada por um animal.
A missíonária cerrou de novo os punhos. Nos seus olhos luzia um brilho metálico, dir-se-iam globos de aço sob pálpebras de carne.
- O acampamento de Gomun fica muito longe, num lugar inacessível.
- Arranjaremos um guia.
- Ninguém nos acompanhará até lá. E ninguém lhe permitirá profanar um túmulo.
Agiremos juntos, irmã. Só nós os dois.
É inútil. Na floresta, o processo de decomposição é acelerado. Gomun foi enterrada há cerca de setenta e duas horas. Neste momento, o seu corpo já não é mais do que uma massa abjecta de vermes.
- Nem sequer o estado actual do corpo pode esconder os cortes precisos de um escalpelo cirúrgico. Bastarão uns segundos de apreciação. Podemos ganhar esta corrida, eu e a irmã. É a atroz verdade contra vãs superstições.
- Meu filho, veja com quem está a falar.
-Justamente, irmã. A abjecção das carnes mortas nada é diante da grandeza da verdade. Os filhos de Deus não têm porventura sede de luz?
- Cale-se, blasfemador.
A irmã Pascale levantou-se. A cadeira emitiu um rangido agudo. As suas pupilas já quase se resumiam a entalhes escavados na pele de ardósia. Disse numa voz de além-coração:
- Partamos. Agora mesmo.
Girou abruptamente sobre si mesma e gritou qualquer coisa em sango ao negro, que acorreu imediatamente e depois se afadigou em todas as direcções. A missionária tirou um crucifixo de prata suspenso de um fio de metal. Beijou-o e sussurrou umas palavras. Quando o Cristo voltou a cair-lhe no peito, notei que a barra lateral da cruz estava curvada para baixo, como se o peso do sofrimento tivesse vergado o próprio instrumento de martírio. Levantei-me por minha vez mas vacilei. Não comera nada desde a véspera nem dormira. A minha chávena de chá permanecia em cima da mesa, intacta. Bebi-a de um trago. O Daijeeling estava morno e viscoso. Tinha o gosto do sangue.
Caminhámos durante várias horas. À frente, Victor, o boy da irmã Pascale, manejava o seu machete para nos abrir passagem. A missionária avançava atrás dele, muito direita no seu poncho de caqui. Eu fechava a marcha, resoluto e concentrado. íamos rumo ao sul, em passo rápido e em silêncio. Palmilhávamos, escorregávamos, escalávamos. Velhos cepos e raízes retorcidas, rochedos carcomidos e ramos peganhentos, moitas empapadas de água e folhas aceradas. A chuva não parava. Atravessávamos as suas cordas cintilantes, como os soldados atravessam os aguilhões do medo quando marcham para a Frente. Multiplicavam-se os charcos. Penetrávamos naquelas águas negras até meio do corpo, experimentando então um sentimento de imersão sem retorno.
Nenhum grito, nenhuma presença veio interromper este meio dia de jornada. Os animais da floresta mantinham-se prostrados sob as folhas ou no fundo das tocas, perfeitamente invisíveis. Só três pigmeus cruzaram o nosso caminho. Um deles usava uma blusa de camuflagem, estriada de riscas ocres e pretas, desencantada não se sabia onde. Uma estreita tira de cabelo crespo atravessava-lhe o crânio. Era uma autêntica crista, à maneira dos Moicanos. O que abria a marcha levava uma brasa fumegante sob a camisa e um cesto de folhas entrançadas, cilíndrico e fechado.
A irmã Pascale dirigiu-se a ele. Era a primeira vez que eu a ouvia falar a linguagem aka. A sua voz grave ressoava dos hm hm característicos e de longas vogais suspensas. O aka abriu o cesto e estendeu-o à missionária. Falaram de novo. Permanecíamos imóveis sob a chuva que parecia obstinar-se sobre nós como outros tantos alvos. As folhas das árvores vergavam sob a violência das gotas e os troncos escuros vertiam verdadeiras torrentes.
A missionária murmurou, sem olhar para mim: - Mel, Louis. - Debrucei-me por cima do cesto. Vi os alvéolos luzidios e as abelhas que se aferravam aos seus bens pilhados. Deitei uma olhada ao homem. Dirigia-me um amplo sorriso incisivo. Os seus ombros estavam constelados de um sem-número de picadas. Imaginei por instantes este homem a trepar a uma árvore zumbidora, depois a infiltrar-se sob a copa frondosa para enfrentar o furor da colmeia. Imaginei-o a mergulhar as mãos na falha da casca, a tactear no meio do enxame para surripiar alguns nacos açucarados.
Como se quisesse corroborar os meus pensamentos, o aka ofereceu-me um bocado de mel gotejante. Despeguei um fragmento e levei-o à boca. A minha garganta encheu-se logo de um perfume refinado, denso e profundo. A pressão da língua fez brotar um néctar único dos hexágonos rugosos. Era tão suave e açucarado que senti uma espécie de inebriamento imediato no fundo do ventre - como se de repente as minhas entranhas se embriagassem.
Meia hora mais tarde alcançávamos o acampamento de Gomun. A vegetação transformara-se. já não era a imensidade intrincada que nos rodeara até então. Pelo contrário, a floresta era aqui arejada e regular. Árvores negras e esguias multiplicavam-se a perder de vista, oferecendo uma simetria quase perfeita. Demos alguns passos no terreiro fantasma. Só havia algumas choças erguidas ao pé das árvores, sem ordem aparente.
Reinava uma intensa solidão. Curiosamente, este espaço de folhas, totalmente vazio, totalmente imóvel, lembrava-me a casa de Bõhm quando a esquadrinhara no alvorecer do dia da minha partida - outro lugar habitado pela morte.
A irmã Pascale parou em frente de uma choça de pequenas dimensões. Disse algumas palavras a Victor, o qual puxou de duas pás enroladas em panos velhos. A missionária indicou um montão de terra revolvida há pouco, situado atrás do abrigo. ”É ali”, disse. A sua voz quase não era perceptível no meio da zoada da chuva. Desembaracei-me da minha mochila e peguei numa das pás. Victor olhava-me, mudo e trémulo. Encolhi os ombros e enterrei o instrumento na terra vermelha. Tive a impressão de enfiar uma lâmina no flanco de um homem.
Cavei. A irmã Pascale tornou a falar a Victor. Manifestamente, a missionária não lhe explicara o objectivo da nossa expedição. Eu continuava a cavar. A terra, muito friável, não opunha qualquer resistência. Em poucos minutos atingira cinquenta centímetros de profundidade. Os meus pés submergiam-se no húmus, a abarrotar de insectos e raízes. ”Víctor!”, berrou a freira. Ergui os olhos. O mbaka não bulia, de olhos arregalados. O seu olhar passou rapidamente dela para mim, de mim para ela. Depois virou costas e correu dali.
O silêncio desceu sobre nós. Prossegui a minha tarefa. Ouvi o barulho da outra pá. Rosnei sem levantar os olhos. Deixe, irmã. Por favor. - Tinha agora metade do corpo dentro do fosso. Os vermes, as escolopendras, os escaravelhos e uma data de aranhas fervilhavam à minha roda. Alguns fugiam sob a violência dos golpes. Outros agarravam-se ao tecido das minhas calças, como se tentassem impedir-me de prolongar o meu sismo. O cheiro da terra agredia-me os sentidos. A pá chapinhava na poça de lama. Escavava, escavava, já esquecido do que buscava. No entanto, de súbito, o contacto de uma superfície mais dura chamou-me à realidade. Ouvi a voz sumida da minha companheira: - A casca, Louis. já lhe tocou.
Hesitei por uma fracção de segundo e depois raspei a terra com a borda da pá. O troço de madeira apareceu. A sua superfície era ligeiramente convexa, vermelha e gretada. Lancei a pá para fora e procurei arrancar a carapaça de casca com as mãos desguarnecidas. À primeira vez, as mãos escorregaram e caí na lama. A irmã Pascale, à beira do túmulo, estendeu-me a mão. Urrei: - Deixe-me em paz! - Recomecei. Desta feita a casca cedeu mais claramente. O aguaceiro engolfava-se no buraco escancarado e já estava a enchê-lo. De súbito a tábua deu de si. Arrastado pelo movimento, caí outra vez de costas, apanhando na cabeça com a tampa, que rodara 360 graus. Experimentei uma estranha doçura. Durante uns momentos gozei esta inesperada sensação mas depois brami com todas as minhas forças: era o contacto da pele de Gomun, do seu corpo de criança,
Levantei-me e forcejei por manter a calma. O cadáver da rapariga estendia-se diante de mim. Envergava, na maior das pobrezas, um pequeno vestido de flores desbotado e por cima um casaco puído. Esta indigência apertou-me o coração. Mas surpreendia-me a beleza da criança, como que imaculada. A família tivera o cuidado de disfarçar os ferimentos antes de a sepultar. Só umas leves cicatrizes lhe estriavam as mãos e os tornozelos nus. O rosto estava intacto. Os olhos fechados aureolavam-se de umas grandes olheiras de tons acastanhados. Também me surpreendia a evidência deste lugar-comum: a morte assemelhava-se ao sono, como duas gotas de tinta escura. A frescura a meus pés recordou-me a urgência da situação. Gritei: - Agora é a sua vez, irmã. Desça. A chuva está a inundar a cova! - A irmã Pascale despira o poncho e postava-se muito direitajunto à borda, mexendo no seu crucifixo. Os cabelos de metal, o rosto cínzeo - tudo brilhava sob a chuva e dava-lhe o aspecto de uma estátua de ferro. Os seus olhos mantinham-se pregados no cadáver. Tornei a gritar:
- Depressa, irmã! Dispomos de pouco tempo.
A religiosa permanecia imóvel. Tremores bruscos sacudiam-lhe o corpo como descargas de electricidade.
- Irmã!
A missionária apontou o dedo para o túmulo e depois balbuciou numa voz maquinal: - Meu Deus, a pequenita... A pequenita está a desconjuntar-se...
Deitei uma olhadela a meus pés e encostei-me à parede de lama. Os regos de chuva tinham-se insinuado sob o vestido. Uma das pernas flutuava agora na poça, a um metro do corpo.
O braço direito começava a desprender-se do ombro, arredando a gola do vestido e deixando aparecer a saliência esbranquiçada do osso. - Céus! - murmurei. Patinhei na água encarniçada e icei-me para a superfície. Deitei-me no chão e passei as mãos por baixo das axilas da menina. Perdera o braço, que boiava ao longo da casca. O tecido do vestido escapou-me dos dedos. Gritei de raiva: - Irmã, ajude-me! Valha-me Deus, ajude-me! - A mulher não se mexia. Ergui os olhos. Autênticos electrochoques fustigavam-lhe os ombros. Os lábios palpitavam-lhe. Ouvi de súbito a voz dela:
... Senhor jesus,
Tu, que choraste pelo Teu amigo Lázaro, no túmulo, Enxuga as nossas lágrimas, nós Te rogamos...
Mergulhei novamente os braços na lama e puxei com mais força o corpo da menina. Sob a pressão, a sua boca abriu-se e um fluxo de vermes irrompeu lá de dentro. A menina aka já não passava de uma ganga de pele protegendo milhões de vermes roedores. Vomitei um esguicho de bílis, sem no entanto largar o corpo.
- Tu, quefizeste reviver os mortos, concede a vida eterna à nossa irmã, nós Te rogamos...
Puxei ainda mais e trouxe a menina para a superfície. Gomun perdera um membro inferior e o braço direito. O vestido flutuava sobre a anca disjunta, ensopado em laterite. Lobriguei a choça mais próxima. Peguei no busto e recuei até ao abrigo de folhas.
Santificaste a nossa irmã na água do baptismo, dá-lhe em plenitude a vida dos filhos de Deus, nós Te rogamos...
Instalei o corpinho sobre a terra seca, no meio da obscuridade. O telhado era tão baixo que eu me deslocava de joelhos. Rastejei até ao exterior para me apoderar do saco da irmã Pascale e depois meti-me novamente na cubata. Tirei então o material: instrumentos cirúrgicos, luvas de borracha, aventais, uma lâmpada à prova de intempérie e, não sei porquê, um macaco de automóvel. Encontrei igualmente máscaras de papel verde e várias garrafas de água. Estava tudo intacto. Pousei o conjunto sobre uma tela de plástico, evitando olhar para Gomun, que expelia insectos pela boca, olhos e nariz. junto à barriga, o vestido encharcado soerguia-se molemente. Milhões de profanadores pululavam por baixo. O cheiro era insuportável. Mais uns minutos e tudo se aniquilaria.
... Alimentaste-a com o Teu corpo, recebe-a à mesa do Teu Reino, nós Te rogamos...
Saí outra vez. A irmã Pascale ainda estava de pé, salmodiando a sua prece. Agarrei-a pelos dois braços e sacudi-a violentamente a fim de a despertar da sua catalepsia mística. - Irmã!
- berrei. - Apre! Acorde!
Teve um sobressalto tão violento que escapou ao meu enlace; depois, ao cabo de um minuto, disse que ”sim” com as pálpebras e eu amparei-a até à choça.
Acendi a lamparina à prova de intempérie e fixei-a no entrançado de ramos. Um clarão leitoso ofuscou-nos. Coloquei a máscara no rosto da freira, pus-lhe um avental e enfiei-lhe nos dedos as luvas de borracha. As mãos já não lhe tremiam. Os seus olhos incolores volveram-se para a pequenita. A sua respiração enfunava a membrana de papel. Com um gesto breve, ordenou-me que lhe chegasse os instrumentos cirúrgicos. Obedeci. Eu pusera igualmente um avental, uma máscara e luvas. A irmã Pascale empunhou a tesoura e cortou o vestido de Gomun para lhe destapar o torso.
Acometeu-me de novo uma náusea.
O busto da pequena aka não passava de uma chaga, minuciosa, variada, delirante. Um dos seiozinhos estava quase seccionado. Todo o flanco direito, da axila ao começo da virilha, apresentava lacerações profundas cujos bordos, quais lábios abdominais, tinham enegrecido e estalado. Mais acima, o coto do ombro exibia a ponta do osso. Mas sobretudo, ao centro, a ferida principal, comprida, nítida, que atravessava a parte superior do tórax. Visão medonha: a pele palpitava ligeiramente de ambos os lados, como se o peito tivesse recobrado uma vida nova, formigante, assustadora.
Tudo isto, porém, nada era em comparação com o sexo da adolescente: a vagina, praticamente imberbe, estava aberta de uma forma desproporcionada, até ao umbigo, desvelando nas suas profundezas uns recessos acastanhados que escorriam vermes e insectos de carapaças reluzentes. Sentia-me desfalecer, mas vislumbrei outro facto no fundo do horror. Tinha diante de mim a réplica exacta de uma das fotografias de Bõhm. A ligação. A ligação continuava ali, tecida na carne dos mortos e nas trevas. - Louis, que está a fazer? Passe-me o macaco! A sua voz era sufocada pela máscara. Balbuciei por minha vez: -O macaco? - A religiosa confirmou. Dei-lhe o instrumento. Pousou-o lado e ordenou: - Ajude-me. - Acabava de agarrar com ambas as mãos no bordo esquerdo da ferida central, apoiando-se solidamente no osso do esterno. Com os nervos em franja, procedi da mesma maneira, à direita, e puxámos juntos cada qual para seu lado. Quando a fissura ficou aberta, a freira introduziu o macaco, tendo o cuidado de entalar as duas extremidades contra os bordos ósseos. Acto contínuo, pôs-se a rodar a cremalheira - e vi o pequeno torso abrir-se sobre o abismo orgânico.
- Água! - berrou. Dei-lhe uma das garrafas e ela despejou o litro inteiro. Irrompeu uma autêntica torrente de bicharia. Sem hesitar, a irmã Pascale mergulhou as mãos no corpo e esmiuçou os restos orgânicos da adolescente. Desviei o olhar. A religiosa deitou outra vez uns centilitros de água límpida e pediu-me que orientasse melhor a lamparina. Enfiou a mão até ao punho no tórax da morta. Aproximou-se de modo a que o seu rosto aflorasse a ferida. Durante uns segundos remexeu de novo as entranhas, e por fim esquivou-se subitamente e fez saltar o macaco com uma cotovelada. As duas abas da caixa torácica fecharam-se logo como as asas de um escaravelho.
A religiosa recuou, sacudida por um último espasmo. Arrancou a máscara. Tinha a pele seca como a de uma serpente. Cravou as pupilas cinzentas nas minhas e depois murmurou:
- Acertou, Louis. A menina foi operada. Retiraram-lhe o coração.
às dezassete horas estávamos de regresso à clareira de Zoko. O dia declinava já. Depois de nos desembaraçarmos dos oleados e dos sapatos encharcados, a irmã Pascale, sem dizer uma palavra, preparou café e chá. A meu pedido, aceitou redigir uma certidão de óbito que me apressei a meter na algibeira. Não valia grande coisa - a irmã Pascale não era médica. Mas sempre constituía um testemunho sob palavra de honra.
- Irmã, aceita responder a mais algumas perguntas
- Estou à sua disposição.
A irmã Pascale recuperara a calma. Principiei:
- Há helicópteros centro-africanos que consigam aterrar aqui em plena selva?
- Só existe um. O de Otto Kiefer, o indivíduo que dirige a Sicamine.
-Julga que os homens dessa mina são capazes de cometer semelhante acto?
- Não. Gonum foi operada por profissionais. As pessoas da Sicamine são uns brutos, uns bárbaros.
- Acha que eles poderiam ter colaborado numa tal operação, mediante um pagamento?
- É possível. São desprovidos de escrúpulos. Kiefer já devia estar na prisão há muito tempo. Mas não vejo por que motivo iriam atacar uma rapariguinha pigmeia no meio da selva. E, ainda por cima, em tais condições. Por que mutilariam assim o corpo?
- É a pergunta seguinte, irmã. Haverá maneira de conhecer o grupo HLA dos habitantes de Zoko?
A irmã Pascale fixou em mim as suas pupilas:
- Refere-se ao grupo tecidual?
- Exactamente.
Hesitou e passou a mão pela testa; depois murmurou:
- Oh, meu Deus...
- Responda, irmã. Há um meio?
- Bem, lá isso há...
Levantou-se. - Siga-me.
Pegou numa lanterna e encaminhou-se para a porta. Acompanhei-a. Lá fora já anoitecera, mas a chuva não amainava. Ao longe ouvia-se o ronronar de um gerador. A irmã Pascale tirou umas chaves do bolso e abriu a porta do compartimento contíguo ao dispensário. Entrámos.
Na sala, que não devia medir mais de quatro metros por seis, reinava um forte cheiro asséptico. Havia duas camas à esquerda, por entre a obscuridade. Ao centro estavam dispostos uns instrumentos de análise - aparelho de radiografia, physioguard, microscópio. À direita via-se um computador em cima de uma mesa de acaso, no meio de um emaranhado de cabos e de outros blocos cinzentos-claros. O foco da lanterna passeava por este complexo informático, dotado de vários CDS Rom. Custava-me a acreditar: havia ali o bastante para armazenar quantidades colossais de dados. Também entrevi um scanner que permitia memorizar imagens e em seguida integrá-las na memória informática. Mas o mais espantoso era sem dúvida o telemóvel ligado ao computador. Do seu casinhoto, a irmã Pascale podia comunicar com o mundo inteiro. Assombrou-me o contraste entre o compartimento de cimento bruto, plantado no coração da selva, e estes instrumentos tão sofisticados.
- Há muitas coisas que ignora, Louis. Primeiro, não estamos aqui numa missão esquecida de África, com meios limitados. Pelo contrário. O dispensário de Zoko é uma unidade-piloto cujas aptidões testamos actualmente, com a ajuda de uma organização humanitária.
- Que organização? - balbuciei.
- O Mundo único.
Faltou-me o ar. Um espasmo contraiu-me o coração.
- Há três anos, a nossa congregação firmou um contrato com o Mundo único. A associação desejava implantar-se em África e beneficiar da nossa experiência no continente. Propunha fornecer o material moderno, uma formação técnica para as nossas irmãs e medicamentos segundo as nossas necessidades. Devíamos simplesmente permanecer em contacto com o centro de Genebra, entregar os resultados das nossas análises e acolher de tempos a tempos os seus médicos. A nossa Madre Superiora aceitou este acordo unilateral. Estava-se em 1988. A partir dessa altura, tudo se desenrolou muito depressa. Atribuíram-se os orçamentos. A Missão de Zoko foi equipada. Vieram homens do Mundo único que me explicaram os procedimentos de utilização.
- Que género de homens?
- Não acreditam em Deus, mas têm fé na humanidade, não menos do que nós.
- Em que consiste o seu material?
- Trata-se principalmente de instrumentos de análise, o suficiente para realizar radiografias, exames médicos.
- Que exames?
A irmã Pascale esboçou um sorriso amargo, como um buril que lhe riscasse o metal do rosto. Sussurrou:
- Eu própria nada sei, Louis. Limito-me a colher o sangue, a efectuar biópsias nos pacientes.
- Mas quem realiza as análises?
Hesitou, e depois desabafou, de olhos baixos: - Ele. Apontava para o computador.
- Coloco as amostras num scanner programado, que se encarrega dos diferentes testes. Os resultados são automaticamente integrados no computador, que estabelece a ficha analítica de cada paciente.
- Quem se submete aqui a esse tipo de exames?
- Toda a gente. É para o bem deles, compreende? Aprovei com a cabeça, num gesto extenuado; em seguida
perguntei: - Quem toma conhecimento desses resultados?
- O centro de Genebra. Regularmente, graças a um modem e ao telemóvel, eles consultam o ficheiro do computador e elaboram estatísticas sobre o estado de saúde dos pigmeus de Zoko. Diagnosticam os riscos de epidemia, a evolução dos parasitas, este género de coisas. É, antes de mais, um método preventivo. Em caso de urgência, podem enviar-nos medicamentos muito depressa.
A perfídia do sistema horrorizava-me. A irmã Pascale efectuava as colheitas orgânicas com a maior das inocências. Em seguida, o computador entregava-se aos exames ordenados pelo software. O programa analisava assim, entre outros critérios, o grupo HLA de cada pigmeu. Mais tarde, estas análises eram consultadas pela sede em Genebra. Os habitantes de Zoko constituíam um perfeito stock humano, cujas características teciduais se conheciam com precisão. De igual modo, sem dúvida que em Sliven e em Balatakamp os ”sujeitos” estavam sob controlo. E a técnica devia repetir-se em cada campo do Mundo único, que assim dominava um hediondo viveiro de órgãos.
- Quais são os seus contactos pessoais com o Mundo único?
- Absolutamente nenhuns. Faço as minhas encomendas de medicamentos por computador. Também integro as vacinas e os cuidados praticados. De vez em quando também comunico com um técnico que gere a manutenção do material por modem.
- Nunca fala com os responsáveis do MU
- Nunca.
Calou-se por instantes e depois prosseguiu: - Acha que existe uma relação entre estas análises e Gomun?
Hesitava em adiantar as minhas explicações.
- Não tenho a mínima certeza, irmã. O sistema que imagino é tão incrível... Posso ver a ficha de Gomun?
A irmã Pascale vasculhou numa gaveta de ferro pousada em cima da mesa. Ao cabo de uns segundos estendeu-me uma folha cartonada. Li-a à luz da lanterna. O nome, a idade, a aldeia de origem, a altura e o peso da pequena Gomun surgiam anotados. Seguidamente havia colunas. À esquerda, datas. À direita, os cuidados prestados à adolescente. Confrangeu-se-me o coração ao ver estes diminutos acontecimentos que marcavam o destino comum de uma menina da floresta. Enfim, ao fundo da ficha, impresso em pequenos caracteres, descobri o que procurava. A tipagem HLA de Gomun: Aw19,3 - B37,5- UM arrepio percorreu-me a pele. Sem dúvida alguma, estas iniciais haviam custado a vida àjovem aka.
- Louis, responda-me: estas análises terão desempenhado um papel no assassinato da menina?
- É demasiado cedo, irmã. Demasiado cedo...
A irmã Pascale fitava-me com os seus olhos brilhantes como cabeças de alfinetes. Pela expressão do seu rosto, compreendi que ela captava finalmente a crueldade do sistema. Um tique nervoso agitava-lhe de novo os lábios.
É impossível... impossível...
Acalme-se, irmã. Nada é ainda certo e eu... Não, cale-se... é impossível...
Saí às arrecuas e corri debaixo da chuva, em direcção ao acampamento. Os meus companheiros estavam ajantar à roda da fogueira. O cheiro da mandioca pairava sob o alpendre.
Convidaram-me a sentar-me. Dei ordem de partida. Imediata. Isto soou a heresia. Os Negros Grandes têm horror às trevas. No entanto, a minha voz e o meu rosto não toleravam qualquer objecção. Beckés e os outros sujeitaram-se, de má vontade. O guia tartamudeou:
- Aonde... aonde vamos, patrão?
- A casa de Kiefer. À Sicamine. Quero apanhar o checo antes da alvorada.
Caminhámos durante toda a noite. Às quatro da madrugada atingíamos as imediações das minas de Kiefer. Decidi esperar pela alvorada. Todos nós estávamos esgotados e encharcados até aos ossos. Instalámo-nos ao longo da vereda, sem nos darmos ao trabalho de nos abrigar. Adormecemos acocorados, com a cabeça metida nos ombros. Senti abater-se sobre mim um sono como ainda não conhecera nenhum. Um relâmpago negro que me deslumbrou e me destroçou, e que em seguida me abandonou como no mais fundo de um leito de cinzas.
Levantei-me às cinco da manhã. Os outros ainda dormiam. Abalei logo sozinho, ao encontro das explorações mineiras. Bastava seguir uma pista antiga, aberta pelos mineiros. As árvores, as lianas e os matagais subiam ao assalto da estrada, erguendo acima de si umas delicadas iluminuras, umas górgones folhudas, uns frescos de raízes. Por fim, a pista tornou-Se bastante mais larga. Tirei a minha Glock do coldre, verifiquei o carregador e pu-la de novo à cintura.
Um punhado de homens, imersos num longo aguaçal, escavavam o solo com as mãos nuas, filtrando a terra por meio de uma amplajoeira. Era uma obra de paciência, malcheirosa e húmida. Os mineiros trabalhavam desde o alvorecer, de olhar cansado e gestos lentos. Os olhos sombrios só exprimiam lassidão e embrutecimento. Alguns tossiam e cuspiam para a água enegrecida. Outros tiritavam e produziam incessantes marulhadas. Em redor abria-se a alta abóbada de folhagem, qual nave vegetal cheia dos gritos e dos batimentos de asas dos pássaros. O ouro da luz ascendia e amplificava-se à vista desarmada, esbraseando agora as extremidades de cada folha, inflamando os espaços ténues que os ramos e as lianas poupavam.
A montante do riacho podia-se avistar um acampamento de barracas. Fumos espessos elevavam-se de chaminés de chapa. Dirigi-me para o antro de Otto Kiefer.
Era uma nova clareira, vermelha e lamacenta, cercada de palhotas e tendas de lona. Ao centro erguia-se uma comprida tábua sobre cavaletes, em volta da qual uns trinta operários bebiam café e comiam mandioca. Alguns debruçavam-se por sobre uma telefonia, tentando ouvir a RFI ou a Rádio Bangui, apesar do estrépito dos geradores. Hordas de moscas arremetiam contra os seus rostos.
A entrada das tendas era barrada por fogueiras. Viam-se macacos a assar no meio das chamas e os seus pêlos crepitavam provocando um repugnante cheiro a carniça. Em volta tremiam homens acometidos de febre. Alguns sobrepunham as roupas rotas e enredadas - casacos, camisolas, oleados num magma de pregas. Calçavam sapatos desirmanados: sandálias, botas, mocassins, que se abriam em mandíbulas de crocodilo. Outros, ao invés, estavam seminus. Reparei num homem filiforme, enrolado num bubu turquesa, cuja cabeça era encimada por uma espécie de cone chinês entrançado. Acabava de cortar o pescoço a um papa-formigas e recolhia com precaução o sangue do animal.
Reinava aqui uma atmosfera contraditória: uma mistura de esperança e desespero, de impaciência e indolência, de esgotamento e excitação. Todos estes homens pertenciam ao mesmo sonho perdido. Afincados aos seus desejos, votavam a vida ao tacteio quotidiano das suas mãos na lama escarlate. Passeei uma derradeira vez o olhar pelo acampamento. Não havia a sombra de um veículo. Estes homens estavam reféns da floresta.
Aproximei-me da mesa. Ergueram-se alguns olhares, lentamente. Um homem perguntou:
- De que andas à procura, patrão?
- De Otto Kiefer.
O homem deitou uma olhadela para uma cabana de chapa, por cima da qual uma tabuleta indicava: Direcção. A porta estava entreaberta. Bati e penetrei no interior. Sentia-me perfeitamente calmo, com a mão a apertar bem a coronha da Glock.
O espectáculo que se me deparou não tinha nada de aterrador. Um tipo alto, cuja palidez lembrava o brilho lívido de um esqueleto, esforçava-se por reparar, um magnetoscópio pousado sobre uma velha televisão de madeira e metal. Devia ter uns sessenta anos. Usava o mesmo chapéu que eu - um bob de caqui com ilhós debruados por aros de metal - e um colete de pele acinzentado. Ostentava um coldre vazio à cintura. A sua cara era comprida, ossuda e picada de bexigas. O nariz descaía a direito e os lábios eram finos. Ergueu os olhos na minha direcção. Azuis, líquidos, deslavados e frios.
- Bom dia. O que pretende?
- É Otto Kiefer?
- Sou Clément. Percebe alguma coisa de magnetoscópios?
- Muito pouco. Onde está Otto Kiefer?
O homem não respondeu. Debruçou-se novamente sobre o aparelho e grunhiu: - Precisava de uma chave de parafusos. Repeti: - Sabe onde está Otto Kiefer?
Clément carregava nas teclas e verificava os indicadores luminosos. Ao cabo de uns instantes fez uma careta. O terror arrepanhou-me as tripas: o velho tinha os dentes talhados em bico.
- O que deseja de Kiefer? - disse sem levantar os olhos.
- Apenas fazer-lhe umas perguntas.
O sexagenário resmoneou outra vez: - É isso mesmo, preciso de uma chave de parafusos. Parece-me que tenho uma ali.
- Contornou-me e passou por detrás de uma secretária de ferro juncada de papéis húmidos e garrafas vazias. Abriu a primeira gaveta. Atirei-me sobre ele instantaneamente e fechei a gaveta com violência entalando-lhe a mão. Fiz pesar todo o meu corpo sobre o seu braço esticado. O punho deu um estalo seco. Clément não tugiu. Empurrei-o e abateu-se contra a madeira húmida. A sua mão partida estava crispada sobre uma
38 Smith & Wesson. Arranquei-lhe a arma, O velho aproveitou para me morder a mão com os dentes pontiagudos. Não senti a mais pequena dor. Desferi-lhe uma coronhada na cara, agarrei-o pelo colete e icei-o à altura de um calendário que exibia uma mulher de seios nus. Clément trejeiteou outra vez. Tinha na boca uns filamentos da minha pele. Encostei-lhe a 38 às narinas (começava a ser um hábito).
- Onde está Kiefer, meu tratante?
O homem sussurrou por entre os lábios ensanguentados:
- Vai-te lixar! Não direi nada.
Desferrei-lhe a coronha na boca. Voou uma revoada de dentes. Apertei-lhe a garganta. jorrou sangue dos seus lábios, que escorreu pela minha mão cerrada.
- Desembucha, Clément, e ir-me-ei embora daqui a dois minutos. Deixar-te-ei com a tua mina e as tuas manias de pigmeu branco, Fala. Onde está Kiefer?
Clément limpou a boca com a mão válida e rosnou:
- Não está cá.
Estreitei a minha garra: - Então onde está?
- Não sei.
Golpeei-lhe o crânio contra a parede de madeira. Os seios da pin-up tremeram.
- Fala, Clément.
- Está... em Bayanga. A oeste daqui. Vinte quilómetros... Bayanga. Um clique no meu espírito! Era o nome das planícies de que M’Konta falara. Ali afluíam as aves migradoras todos os Outonos. Isso queria dizer que as cegonhas estavam de regresso. Berrei:
- Foi ao encontro das aves?
- Das aves? Que... que aves?
O vampiro não fingia. Não sabia do sistema. Insisti:
- Quando partiu?
- Há dois meses.
- Dois meses, tens a certeza?
- Sim.
- De helicóptero?
- Claro!
Continuava a apertar o pescoço do réptil. A sua pele enrugada inchava, à procura de oxigénio. Sentia-me desorientado, Estas informações não concordavam com nenhuma das minhas previsões.
- E desde então não recebeste notícias?
- Não... não chegou nada...
- Ele ainda está em Bayanga?
- Sei lá...
- E o helicóptero? O helicóptero voltou há cerca de uma semana, há?
- Sim.
- Quem vinha a bordo?
- Não sei. Não vi nada.
Empurrei-lhe a cabeça contra a parede. A imagem da pin-up despregou-se. Clément tossiu e cuspiu sangue, Repetiu: - juro-te. Não vi nada. Só... só ouvimos o helicóptero. É
tudo. Não aterraram na mina. juro-te.
Clément não sabia nada. Não pertencia ao sistema dos diamantes nem dos corações roubados. Aos olhos de Kiefer, ele não valia certamente mais do que a lama que se lhe colava no traseiro. No entanto, perseverei:
- E Kiefer? Ia lá dentro?
O velho prospector deu uma gargalhada que desvendou todos os seus dentes aguçados. Depois ganiu:
- O Kiefer? já não pode ir com ninguém.
- Porquê?
- Está doente.
- Doente? Que história é essa, hem?
O sexagenário repetia, sacudindo a sua velha carcaça:
- Doente. Kiefer está doente. Do... doente...
Clément sufocava no seu riso ensanguentado. Larguei-o e deixei-o cair ao chão.
- Que doença, velho tarado? Fala.
Lançou-me um olhar de soslaio, o de todas as loucuras, e por fim guinchou:
Sida. O Kiefer tem Sida.
Fugi a toda a brida através da floresta, ao encontro de Beckés, de Tina e de todos os outros. Apliquei um curativo na mão e ordenei uma nova abalada - a caminho de Bayanga. Pusemo-nos outra vez em marcha, rumo a oeste, desta feita seguindo por uma pista mais larga. A viagem durou dez horas. dez horas de um percurso silencioso, ofegante, esgazeado, só parando uma vez para comer uns restos frios de mandioca. A chuva voltara a cair. Cordas ininterruptas, a que já não prestávamos a mínima atenção. As nossas roupas, sob o peso da água, colavam-se à pele e entravavam-nos os passos. Todavia, o nosso ritmo não abrandou e às vinte horas Bayanga surgiu no horizonte.
Só víamos umas luzes distantes, esparsas e bruxuleantes. Um odor a mandioca e petróleo açoitava o ar. As minhas pernas mal me aguentavam. Uma angústia lancinante continuava a macerar-me o fundo do coração, como a ressaca de um sonho mau.
- Vamos dormir nas moradias da Kosica, uma companhia florestal abandonada - disse Beckés. Percorremos a cidade extinta e atravessámos uma planície de canaviais onde a pista desenhava curvas incessantes. De repente a estrada alargou-se e abriu-se para uma vasta savana cuja imensidade mal se distinguia, toda ofertada à noite. Tínhamos alcançado a orla ocidental da floresta.
Apareceram as moradias. Eram muito espaçadas e pareciam estranhas umas às outras. Inesperadamente, um negro munido de uma lanterna barrou-nos o caminho. Dirigiu algumas palavras a Beckes, em sango, e guiou-nos até a uma vasta vivenda que dava para uma curta varanda. A trezentos metros dali erguia-se outra casa, vagamente iluminada. O homem explicou-me, baixando a lanterna:
- Tenha cautela, esta moradia é habitada por um monstro.
- Que monstro?
- Otto Kiefer, um checo. Um homem terrível.
- Está doente, não é?
O negro apontou-me o foco da lanterna à cara:
- Sim. Muito doente. De Sida. Conhece-o?
- Falaram-me nele.
- Esse branco anda a estragar-nos a vida, patrão. Nunca mais morre.
- O seu caso é desesperado?
- Evidentemente - retorquiu o homem. - Mas isto não o impede de ditar a lei. O animal é perigoso. Terrivelmente perigoso. Toda a gente aqui o conhece. Matou não sei quantos negros. E ainda hoje guarda junto de si granadas e armas automáticas. Há-de rebentar com todos nós, mas não tão facilmente como julga! Eu próprio possuo uma espingarda e...
O negro hesitou em prosseguir. Parecia completamente exasperado.
- Esse checo vive sozinho lá em casa?
- Há uma mulher que se ocupa dele. Uma mbati, também doente. - Calou-se e depois continuou, assestando novamente a lanterna aos meus olhos: - É ele que vens visitar, patrão?
A noite ia-se tornando pesada como um xarope morno.
- Sim e não. Gostaria de lhe falar. É tudo. Transmitir-lhe coisas da parte de um amigo.
O negro baixou o foco:
- Tens uns amigos muito esquisitos, patrão. - Suspirou. -Aqui, já ninguém quer vender-nos carne. E há quem fale de queimar tudo quando Kiefer morrer.
Beckés transportava as bagagens para a moradia. Tina sumira-se na noite. Paguei ao negro e fiz a última pergunta:
- E as cegonhas, as aves brancas e pretas? Pousam longe daqui?
O negro abriu os braços e indicou a planície toda:
- As cegonhas? Param mesmo aqui. Estamos no coração do seu território. Dentro de poucos dias serão milhares. Na planície, à beira do rio, junto das casas. Por todo o lado. Nem conseguem dar um passo!
A minha viagem terminara, tinha alcançado o destino final: o destino das cegonhas, de Louis Antioche, de Otto Kiefer, o último elo da rede dos diamantes. Saudei o homem, peguei no saco de viagem e entrei na casa. Era bastante grande, mobilada de mesas baixas e poltronas de madeira. Beckés indicou-me o meu quarto, ao fundo do corredor, à direita. Penetrei no meu antro. Ao centro erguia-se um alto e amplo mosquiteiro que envolvia a cama. As abas de tule dirigiram-me então a palavra: - Vem, Louis!
Estava tudo mergulhado na sombra, mas reconheci a voz de Tina.
- O que fazes aí? - perguntei, respirando a custo.
- Espero por ti.
Desatou a rir e os seus dentes claros rasgaram o tecido da sombra. Retribuí-lhe o sorriso e introduzi-me debaixo do mosquiteiro - compreendendo que o destino, pela última vez, me concedia uma moratória.
Desenrolei-lhe o bubu sem demora, em poucos gestos rápidos. Os dois seios irromperam como torpedos de ébano. Atirei a boca à púbis dela, crespa e acre. Procurei aí não sei bem o quê, o olvido, a ternura - ou alguns remorsos salgados. A sua pele fremiu. As coxas fuseladas abriram-se para o império que eu profanava. Uma voz acima de mim falou em sango e em seguida umas mãos compridas soergueram-me e apoderaram-se das minhas ancas, a fim de me situarem precisamente no recôncavo da sombra. Então, devagar, muito devagarinho, penetrei entre as pernas de Tina.
O seu corpo era tenso e aquentado, modelado em músculos e graça. Punha em jogo as suas doçuras e a sua força, em abundância, tudo isto com a maior espontaneidade. Tina soube arrebatar-me. Conduziu-me ao sabor de movimentos desconhecidos, profundos e lancinantes. As suas mãos desvelaram os meus segredos, encontrando os pormenores mais sensíveis da minha carne. Concentrado nela, alagado em suor e lume, eu passeava os lábios pelas suas axilas negras, pela boca de dentes violentos, pelos seios ríjos e vibrantes. De repente, demasiado depressa, uma vaga abrupta abriu-se dentro de mim e uma explosão de gozo confinou logo com a dor. Nesse instante, algumas imagens precipitaram-se sob o meu crânio, como se quisessem dessoldar-me a alma. Vi o corpo de Gomun, infestado de insectos, a garganta calcinada de Sikkov, o rosto de Marcel, coberto de sangue, o mosquiteiro da minha infância evolado em chamas e crepitações. Poucos segundos mais tarde, tudo desaparecera. O prazer inundava-me as veias, já com o antegosto de sepultura.
Tina, essa, ainda não terminara. Lançou-se no âmago da minha pilosidade, lambendo, sugando, devorando as minhas axilas e a minha púbis, aflorando a minha pele com a sua meiga língua fluorescente, até o seu corpo arqueado ser solevado por uma raiva animal. Eu já não mantinha uma guarda suficiente. Gemendo, Tina rasgou os pensos da minha mão ferida e meteu-me os dedos no seu sexo, tão rósco e tão vivo que parecia refulgir na sombra. à força de contorções, de cambiantes, atingiu a fruição, ao passo que o sangue da minha ferida reaberta corría lentamente entre as suas pernas. Surgiu então uma explosão de perfumes, de fragrâncias acres e deliciosas, como o próprio odor do prazer agudo da rapariga. Tina tombou para trás, rebolou, indo arribar ao longo dos lençóis como uma flor de exultação aniquilada pelo seu próprio néctar.
Nessa noite não dormi. Durante as tréguas que Tina me concedia, não cessei de reflectir. Meditei na secreta lógica do meu destino, no imparável crescendo de emoções, sensações e esplendores que me eram oferecidos à medida que a minha existência se tornava violenta e perigosa. Havia ali uma estranha simetria: os céus de trovoada, a amizade de Marcel e as carícias de Sarah e de Tina haviam encontrado o seu eco na crueldade da gare, na violência dos Territórios Ocupados e no corpo profanado de Gomun. Todos estes factos constituíam as duas bermas de uma mesma estrada que eu calcorreava e que, mal-grado meu, me conduzia ao cabo da existência: ali, onde o homem não pode tolerar mais, onde aceita morrer ao pressentir que, para além da sua consciência, já sabe o bastante. Sim, nessa noite, sob o mosquiteiro, admiti a possibilidade da minha morte.
De súbito ouvíu-se um ruído. Em poucos segundos repetiu-se o mesmo eco, ligeiro e obstinado, como uma miríade de reflexos no ar da manhã. Era um batimento, uma retumbância que eu bem conhecia. Olhei para o relógio. Eram seis da manhã. O dia coava-se debilmente nos estores. Tina adormecera. Dirigi-me para a janela, abri as lamelas vidradas e observei o exterior.
Ali estavam elas. Suaves e cinzentas, erguidas nas suas patas magricelas. Pousando num ápice, espalhavam-se agora por toda a planície, rodeando os bungalows e concentrando-se nas margens do rio ou caminhando ao longo dosjuncos afilados. Compreendi que chegara a altura.
- Vais-te embora? - ciciou Tina.
À laia de resposta, tornei a entrar no mosquiteiro e beijei-lhe o rosto. As suas tranças espetadas recortavam-se na almofada e os seus olhos brilhavam como pirilampos na penumbra.
O seu corpo confundia-se com as trevas. E era como se o desejo tivesse finalmente encontrado o seu lugar no regaço da sombra. Anónimo e secreto, mas cheio de vertigens para quem o soubesse colher. Nunca sofrera tanto por não poder passar as minhas mãos por aquela longa haste de volúpia a fim de sentir as carnes que multiplicavam as ciladas de doçura, os relvados e as formas encantadas.
Vesti-me e enfiei no bolso o pequeno dictafone depois de ter verificado que funcionava. Quando prendi o coldre, Tina abeirou-se e enlaçou-me nos seus compridos braços. Compreendi que estávamos a representar uma cena eterna: a partida do guerreiro, repetida desde há milénios sob todas as latitudes, em todas as línguas.
- Vai para debaixo do mosquiteiro - murmurei. - Os nossos perfumes ainda lá se conservam. Procura-os e retém-nos, minha pequena gazela. Que eles se perpetuem para sempre no teu coração,
Tina não entendeu logo o sentido das minhas palavras. Em seguida o seu rosto iluminou-se e disse-me adeus em sango. Lá fora o céu flamejava na aurora já delida. As ervas altas cintilavam e a atmosfera nunca me parecera tão pura. Milhares de cegonhas espraiavam-se a perder de vista. Branco e preto, preto e branco. Estavam magras, depenadas, esfalfadas, mas pareciam felizes. dez mil quilómetros depois, haviam chegado ao destino. Achava-me sozinho, sozinho face à última etapa, sozinho face a Kiefer, o morto-vivo que conhecia as peças finais do pesadelo. Verifiquei novamente o carregador da Glock 21 e pus-me a caminho. A casa do checo recortava-se muito nítida nas águas do rio.
Trepei os degraus da varanda sem fazer barulho. Quando penetrei no compartimento central, descobri a mulher mbatí a ressonar, encolhida sobre um canapé de madeira. O seu rosto derramava-se num sono sem graça. As faces estavam laceradas por longas escarificações que luziam sob a primeira claridade do dia. Em volta dela dormiam crianças deitadas no chão, aconchegadas debaixo de cobertores esburacados.
À esquerda abria-se um corredor. Impressionava-me a semelhança desta casa com a que acabava de deixar. Kiefer e eu habitávamos a mesma morada. Avancei cautelosamente. Ao longo das paredes corriam centenas de lagartos, fitando-me com os seus olhos secos. Reinava aqui um fedor indescritível.
O mofo do rio saturava a atmosfera. Continuei a avançar. A intuição dizia-me que o checo ocupava o mesmo quarto que eu: o último à direita, ao fundo do corredor. A porta estava aberta. Deparou-se-me um compartimento afogado em penumbra. Sob um alto mosquiteiro pontificava uma cama aparentemente vazia. Uma mesa baixa sustentava frascos translúcidos e duas seringas. Dei mais alguns passos no sepulcro.
- O que vens fazer aqui?
Um arrepio de gelo petrificou-me. A voz soara atrás do mosquiteiro. Mas quase não era uma voz. Um sussurro, isso sim, um sibilo cheio de saliva e ruídos cavos, que só a muito custo formava palavras inteligíveis. Soube logo que esta voz me acompanharia até ao fundo do túmulo. A voz acrescentou:
- Ninguém pode nada contra um homem já morto. Acerquei-me. A minha mão tremia sobre a Glock - como a de um menino amedrontado. Finalmente, enxerguei quem jazia atrás das abas de tule. Não consegui reprimir uma náusea de toda a minha alma. A doença minara Otto Kiefer a preceito. A sua carne não passava de uma pele flácida, solta sobre a carcaça. já não tinha cabelo, nem sobrancelhas, nem qualquer vestígio de pilosidade. Manchas negruscas e crostas secas sobressaíam aqui e ali, na testa, no pescoço, nos antebraços. Vestia uma camisa branca, maculada de escorrências escuras, e estava sentado na cama à maneira de um homem situado aquém da morte.
Não distingui os traços do seu rosto. Só pressentia as órbitas, covis ocos onde dois olhos cintilavam como enxofre. Uma única coisa aparecia nitidamente: os lábios pretos e secos sobre a pele glabra. Afastavam-se para dar espaço a umas gengivas inchadas, ainda mais pretas. Ao fundo do orifício brilhava uma dentadura irregular e amarelada. Era esta atrocidade que falava.
- Tens um cigarro?
- Não.
- Patife! O que vens cheirar aqui?
- Tenho... tenho umas perguntas a fazer-lhe.
Kiefer emitiu uma risada salivosa. Um fio de baba acastanhada escorreu-lhe para a camisa. O homem nem reparou. Prosseguiu com dificuldade:
- Sendo assim, já sei quem és. És o idiota que anda a atrapalhar os nossos negócios há já dois meses. julgávamos que estavas do outro lado, a leste, no Sudão.
- Tive que alterar os meus planos. Começava a tornar-me demasiado previsível.
- E vieste à caça do velho Kiefer, hem?
Não respondi. Com um gesto discreto, pus o gravador a funcionar. A respiração de Kiefer assobiava nos graves, correndo sobre cristas de saliva. Dir-se-ia o guincho de um insecto prestes a afogar-se num lameiro. Os segundos desfilavam. Kiefer insistiu:
- O que pretendes saber, rapaz?
- Tudo - respondi.
- E por que hei-de abrir-me contigo? Repliquei, numa voz neutra:
- Porque és um duro, Kiefer. E, como todos os duros, respeitas certas regras. As regras do combate, do vencedor. Matei um homem em Sófia, um búlgaro. Trabalhava para Bõhm. Matei outro homem em Israel, MikIos Sikkov, mais um esbirro. Sacudi M’Diaye, em M’Baiki, e ele contou-me o que lhe pediste que escrevesse, há quinze anos. Parti os dentes a Clément, e vim no teu encalço até aqui, Kiefer. Venci, sob todos os pontos de vista. Conheço a manigância dos diamantes e das cegonhas. Também sei que vocês andam à procura das pedras desaparecidas no passado mês de Abril. Sei como a vossa rede se organizava. Sei que mataram Ido Gabor em Israel, porque ele descobrira os vossos planos. Sei muitas coisas, Kiefer. E agora estás na mira da minha arma. A tua tramóia dos diamantes chegou ao fim. Max Bõhm morreu, e tu próprio já não duras muito. Venci, Kiefer, e por isso mesmo falarás.
O sibilo não parava de ressoar. A obscuridade podia levar a pensar que Kiefer ressonava. Ou, pelo contrário, que ele espreitava como uma serpente sibilante e iracunda. Por fim sussurrou:
Muito bem, rapaz. Façamos um contrato.
Tolhido de doenças e sob a ameaça da minha arma, Kiefer ainda queria alguma desforra. O checo anunciou os seus trunfos. No fundo do seu fel, discerni um leve sotaque de eslavo:
- Se sabes tanta coisa, deves saber que aqui me chamam ”Tonton Granada”. Debaixo do lençol tenho uma granada bem quentinha, pronta a rebentar. De duas, uma: ou falo-te esta manhã e, em sinal de gratidão, alvejas-me logo a seguir; ou és um cobardolas, e vejo-me obrigado a mandar-nos a ambos desta para melhor. já! Ofereces-me uma bela ocasião de espichar, rapaz. Sozinho, acredita que custa muito.
Engoli em seco. A lógica infernal de Kiefer arrasava-me os nervos. A poucos dias da sua morte, o que o levaria a querer suicidar-se sob a mira da Glock? Retorqui:
- Podes falar, Kiefer. Na altura certa, a minha mão não tremerá.
O moribundo casquinou. Ejectaram-se dos seus lábios uns mucos negros.
- Perfeito. Segura-te então bem, porque histórias assim não as ouvirás todos os dias. Tudo começou nos anos setenta. Eu era o homem de mão de Bokassa. Na época o trabalho não faltava. Desde os ladrões aos ministros, não tinha mãos a medir. Desempenhava-me das minhas missões desagradáveis e recebia a parte que me cabia. Era uma vidinha perfeita. Mas Bokassa ia tresvariando cada vez mais. Houve o golpe das duas Martine’, umas orelhas cortadas, a sede de poder, e a coisa começava a ficar feia... Na Primavera de 1977, Bokassa propôs-me
1 As duas Martine: a falsa Martine, reconhecida como filha por Bokassa (casada com o chefe do golpe, Ficlè1e Obrou) e a verdadeira Martine, uma filha que Bokassa tivera na Indochina. (N. do T)
uma missão. Devia acompanhar Max Bõhm. Eu conhecia mais ou menos o suíço. Um tipo bastante eficaz, se descontarmos a mania de se armar em justiceiro. Queria conservar as mãos limpas, apesar de estar metido até ao pescoço em tráfico de café e diamantes. Nesse ano Bõhm descobrira um filão de diamantes para lá de M’BaIki.
Intervim, movido pela surpresa:
- Um filão?
- Sim. Bõhm surpreendera na floresta aldeões que extraíam diamantes magníficos ao longo dos riachos. Mandara vir um geólogo seu conhecido, um africânder, para verificar a descoberta e encetar os trabalhos de exploração. Bõhm era sério, mas Bokassa desconfiava. Metera-se-lhe na cabeça que o suíço queria intrujá-lo. Incumbiu-me então da chefia da expedição, com Bõhm e o geólogo, um fulano chamado van Dõtten.
- A expedição PR 154.
- Exactamente.
- E depois?
- Tudo se passou conforme o previsto. Tomámos o rumo do sul, mais além da SCAD. A pé, debaixo de chuva, no meio da lama, com uma dezena de carregadores. Chegámos ao filão. Bõhm e o panasca efectuaram análises.
- O panasca?
- Van Dõtten era homossexual. Um larilas do piorio, esse africânder... adorava cus negros e os operários ainda novínhos... Estás a perceber, meu lindo?
- Continua, Kiefer.
- Os dois homens trabalharam vários dias. Levantamentos, extracções, análises. Tudo confirmava as primeiras conclusões de Bõhm. O filão abarrotava de diamantes. Pedras de uma qualidade excepcional. Pequenas, mas absolutamente puras. Van Dõtten até previa um rendimento incrível. Nessa noite brindámos à saúde da mina e da nossa recompensa. Surgiu então, inesperadamente, um pigmeu. Trazia uma mensagem para Max Bõhm. É assim que as coisas se passam na floresta. Os akas são os correios. O suíço leu a carta e caiu redondo na lama. A sua pele estava inchada como uma câmara de ar. Parecia à beira de morrer de ataque do coração. Van Dõtten precipitou-se, arrancou-lhe a camisa e friccionou-lhe o torso. Por mim, apanhei a folha de papel. Lia-se aí o anúncio da morte da esposa. Eu nem sequer sabia que Bõhm era casado. O filho, esse, compreendeu logo tudo. Pôs-se a’disparatar, a choramingar, como fedelho que era. Estava ali a mais, nas tempestades de mosquitos e nos charcos cheios de sanguessugas. Ergueu-se sobre nós um vento de pânico. Imagina bem onde nos encontrávamos rapaz: a três dias de marcha da SCAD, a quatro de M’Baiki. E ainda que assim não fosse, nada nem ninguém poderia salvar o suíço, Bõhm estava condenado. Eu sabia-o e só tinha uma ideia: arrancar-nos a todos dali e descobrir uma nesga de céu. Os carregadores construíram uma maca. Partimos. Mas Bõhm recuperou os sentidos. O suíço não via as coisas da mesma maneira. Desejava que nos deslocássemos para sul. Dizia que conhecia um dispensário, do outro lado da fronteira do Congo. Que havia lá um médico, o único médico em todo o mundo que poderia salvá-lo. Chorava, berrava que não queria morrer. O filho apoiava-o, van Dõtten lamentava-se. Chiça! Apeteceu-me largá-los ali sem perda de tempo, mas os carregadores foram mais lestos do que eu. Fugiram sem dizer água vai. Em suma, já não me restava outra escolha. Era preciso transportar a maca e aturar o filho, que chamava pela mãe. Demos ao pai uns medicamentos e depois abalámos todos: eu, van Dõtten e os dois Bõhm. O comboio da última esperança! Mas o mais espantoso, rapaz, é que ao fim de seis ou sete horas de marcha encontrámos o dispensário. Incrível! Uma grande moradia erguida no meio da floresta. Com um laboratório anexo e negros que se azafamavam por todo o lado, de bata branca! Pressenti logo que havia ali marosca. Algo de dúbio. Foi então que ele surgiu. Um tipo alto, à volta dos quarenta anos, nada mal-apessoado. Porra! Em plena selva, rapaz, havia aquele gajo, com ares de nababo, que nos dizia com uma voz muito calma: ”Que aconteceu?”.
Elevava-se um zunido sob as minhas têmporas. Uma moinha ténue que aumentava à medida que os meus nervos se transtornavam. Era a primeira vez que ouvia falar deste médico. Perguntei:
Quem era ele?
Não sei. Nunca vim a saber. Mas compreendi imediatamente que Bõhm e ele se conheciam de longa data, que o suíço já o vira na floresta, sem dúvida por ocasião de outras expedições. Bõhm berrava na sua maca de folhas. Suplicava ao médico que o salvasse, que fizesse o impossível, tudo menos deixá-lo morrer. Espalhara-se um cheiro a merda. Bõhm despejara a tripa nas calças. Nunca gramei o Bõhm, podes crer, rapaz. Fiquei pior que uma barata ao vê-lo em semelhante estado. Que vergonha! Éramos uns duros, rapaz. Uns africanos brancos do caneco. Mas a floresta estava a dar cabo de nós. Então o médico inclinou-se e murmurou: ”Estás pronto para tudo, Max? Realmente tudo?”, e a sua voz era doce. Ele parecia saído direitinho das páginas de uma revista mundana. Bõhm agarrou-o pelo colarinho e disse-lhe em voz baixa: ”Salva-me, doutor. Sabes o que não funciona bem dentro de mim. Portanto, salva-me. É a altura de mostrar o que sabes fazer. Temos diamantes. Uma autêntica fortuna. Acolá, não muito longe, no interior da terra”. Era insano! Aqueles dois homens falavam como se se tivessem despedido na véspera. Mas, sobretudo, Bõhm falava ao outro como se ele fosse especialista do coração. Estás a topar, rapaz, ali no meio da selva?
Kiefer interrompeu-se. O dia penetrava lentamente no quarto. A cara do checo infundia terror. As gengivas negras reluziam na sombra. As maçãs do rosto sobressaíam tão violentamente que pareciam prestes a ferir a pele que as recobria. Senti de repente uma imensa piedade pelo assassino de granada. Nenhum homem nesta terra merecia tal degenerescência. Kiefer prosseguiu:
- Então o médico dirigiu-se a mim. Disse-me assim: ”Vou ter de o operar”. ”Aqui?”, admirei-me. ”É doido ou quê?”. ”Não temos escolha, senhor Kiefer”, responde-me ele. ”Ajude-me a transportá-lo”. Nisto, dou-me conta de que sabe o meu nome. De que nos conhece aos três, até mesmo a van Dõtten. Levámos o velho Max para dentro da casa e depusemo-lo num vasto compartimento ladrilhado. Havia uma espécie de ar condicionado que zumbia. Parecia tratar-se de uma sala de operações. Esterilizada e tudo. Mas havia como que um sinistro cheiro a sangue, muito longínquo, que me dava volta ao estômago.
Kiefer estava a descrever o matadouro das fotografias de Bõhm. Um a um, os elementos iam-se ordenando. O efeito do choque fez-me vacilar. Às apalpadelas, puxei de uma cadeira de pau e sentei-me devagar. Kiefer troçou.
- Sentes-te mal, rapaz? Agarra-te bem, porque ainda só vamos nos aperitivos. Tivemos de tomar um duche e mudar de roupa na primeira sala esterilizada. Depois entrámos noutro compartimento, onde se via o bloco operatório separado por um vidro. Havia duas mesas de metal com revestimento de níquel. Instalámos Bõhm. O médico agia cheio de tranquilidade e gentileza. O velho Max parecia apaziguado. Ao fim de uns instantes voltámos para a primeira sala, onde nos esperava o filho. O cirurgião falou-lhe com grande doçura: ”Vou precisar de ti, meu amigo”, disse ele. ”Para curar o teu papá, devo colher um pouco do teu sangue. Não há qualquer perigo. Não sentirás absolutamente nada”. Vira-se então para mim e ordena: ”Deixe-nos, Kiefer. A operação é delicada. Tenho que preparar os pacientes”. Saí, rapaz, com a cabeça a arder como um vulcão. já não sabia onde estava. Lá fora chovia a potes. Encontrei van Dõtten. Tremia como varas verdes. Eu também. As horas passaram assim. O doutor saiu por fim, às duas da madrugada, Vinha coberto de sangue. Tinha o rosto alterado, pálido até mais não. Algumas veias latejavam-lhe debaixo da pele. Quando o vi, disse com os meus botões: Bõhm morreu. No entanto, o rosto dele fendeu-se num sorriso torpe. Os seus olhos claros brilhavam à luz dos candeeiros de petróleo. Disse: ”Max Bõhm está fora de perigo”. Depois acrescentou: ”Mas não pude salvar o filho”. Empertiguei-me. Van Dõtten escondeu a cabeça nas mãos e murmurou: ”Oh, meu Deus... ”. Bradei: ”O quê, o filho?! Meu grande bandalho, o que fizeste?
O que fizeste ao miúdo, maldito carniceiro?”. Corri para dentro do dispensário antes de ele poder responder qualquer coisa. Era um verdadeiro labirinto, todo em ladrilhos brancos. Finalmente encontrei a sala de operações. Um árabe montava guarda, armado de uma AK-47. Através do vidro, porém, pude ver os vestígios da carnificina. Os ladrilhos estavam vermelhos. As paredes gotejavam de vermelho. As mesas de operações estavam submersas em vermelho. Nunca me passara pela cabeça que um corpo humano pudesse sangrar tanto. Um cheiro horrível a carniça voltejava no ar. Fiquei petrificado. Ao fundo do compartimento, na obscuridade, avistei o velho Max a dormir placidamente sob um lençol branco. Mais perto de mim, porém, estava ojovem Bõhm. Uma explosão de carne e tripalhada. Conheces a minha reputação, rapaz. Não tenho medo da morte e sempre gostei de fazer mal, sobretudo aos negros. Mas o que via na minha frente ultrapassava tudo. O corpo apresentava-se lacerado em todos os sentidos. Havia chagas que eu nem sequer podia destrinçar O miúdo tinha o torso aberto, da garganta ao umbigo. Havia vísceras meias-saídas que pingavam sobre o ventre. Não era preciso ser-se muito esperto para compreender o que o cirurgião fizera. Roubara o coração do miúdo e enxertara-o no corpo do pai. Era certamente algo de genial ter conseguido semelhante coisa em plena selva. Mas o que eu via diante de mim não era a obra de um génio. Era a obra de um louco, de um filho da puta de um nazi ou sei lá do quê. Insuportável, rapaz, juro-te. Há quinze anos que não passo uma noite sem rever aquele corpo retalhado. Aproximei-me mais, mesmo junto ao vidro. Queria ver o rosto do jovem Bõhm. A cabeça dele estava virada num ângulo impossível, a
180 graus. Atentei nos seus olhos esbugalhados, apavorados. O miúdo tinha uma mordaça na boca. Percebi então que o pulha lhe fizera tudo aquilo ao vivo, sem anestesia. Puxei da minha arma e voltei lá para fora. O médico esperava-me rodeado por quatro árabes armados até aos dentes. Apontavam lanternas para mim. Encandeado, já não via nada. Ouvi a voz melodiosa do médico que me furava o cérebro: ”Seja sensato, Kiefer. Ao mais pequeno gesto, abato-o como um cão. A partir de agora, é cúmplice da morte de uma criança. Tanto no Congo como na República Centro-Africana, e a pena capital mais que certa. Mas se seguir as minhas instruções, não terá qualquer dissabor e sem dúvida ainda ganhará muito dinheiro...”. O médico explicou-me então o que devia fazer. Tinha de levar o corpo do jovem Bõhm até M’Baiki e engendrar uma versão oficial com um clínico negro. Desde já, receberia um balúrdio por isto mesmo. Em seguida, viria certamente um negócio ainda mais suculento. Estava encalacrado, não tinha outra escolha. Amarrei o corpo de Philippe Bõhm a uma maca e voltei a partir com dois carregadores, na direcção da SGAD. Deixei o pai Bõhm nas mãos do lunático. Van Dõtten fugira. Encontrei a minha camioneta e fui até M’Baiki com o corpo do garoto. Esta história era nojenta, mas esperava que a floresta se fechasse sobre o médico e apagasse o pesadelo,
Durante aquela noite infernal, Bõhm, Kiefer e van Dõtten haviam entregue, sem saber, a alma ao diabo. Eu nunca imaginara outro homem a chefiar o trio. Desde essa noite de Agosto de 1977 que os três brancos estavam sob controlo, A cápsula de titânio, no novo coração de Max Bõhm, adquiria todo o seu sentido: era a prova convincente - a ”assinatura” do doutor, o objecto que concretizava o crime e permitia que o cirurgião mantivesse o seu ascendente sobre Bõhm e, indirectamente, sobre os dois outros.
- Conheço a continuação, Kiefer - disse eu. - Interroguei M’Diaye. Ditaste-lhe o relatório e regressaste a Bangui com o corpo. O que sucedeu depois?
- Contei umas tretas a Bokassa. Expliquei que tínhamos sido atacados por um gorila, que ojovem Bõhm morrera e que o velho Max regressara ao seu país, via BrazzavílIe. Era duvidoso, mas Bokassa estava-se marimbando. Só lhe interessava uma coisa: a descoberta de diamantes. Faltavam três meses para a coroação. Ele procurava pedras por todo o lado. Para a sua ”coroa”. Uma unidade de prospecção instalou-se na floresta, no mais completo segredo. Era eu que dirigia os trabalhos. No mês de Outubro, descobrimos pedras extraordinárias. Foram imediatamente enviadas para Antuérpia, a fim de serem lapidadas.
- Quando tornaste a ver Bõhm?
- Um ano e meio mais tarde, em janeiro de 1979, em Bangui. Não acreditei no que os meus olhos viam. O velho Max emagrecera tremendamente. Os seus gestos eram lentos, cautelosos. Os cabelos cortados à escovinha estavam mais brancos do que nunca. Procurámos um cantinho sossegado à beira do Ubangui, para conversar. A cidade inflamava-se nos outros sítios: as manifestações de estudantes já haviam começado.
- Que te disse ele?
- Propôs-me um negócio, o negócio mais louco que alguma vez me propuseram. Eis o que me disse, em resumo: ”O reinado de Bokassa terminou, Kiefer. A sua destituição deve sobrevir daqui a umas semanas. Além de nós os dois, ninguém conhece o verdadeiro potencial da Sicamine. És tu que diriges o filão. Dominas os teus homens e controlas os stocks. Sabemos como as coisas funcionam na floresta, não é? Nada te impede de guardar as melhores Pedras. Nunca ninguém irá ver o que saiu efectivamente dos riachos”. Bõhm, o cavaleiro andante africano, estava a sugerir-me que desviasse diamantes. Era evidente. A sua ”operação” mudara-o profundamente... ”Para mim”, continuou ele, ”a África acabou. Não quero voltar a pôr os pés nesta terra. Nunca mais. Na Europa, contudo, posso receber as tuas pedras e vendê-las em Antuérpia. O que achas?”, Reflecti. O tráfico de diamantes é a mais terrível tentação quando se tem uma tarefa como a minha: todo o dia a banhar na merda e a ver tesouros a fugir por entre os dedos. Mas não ignorava os riscos. Respondi: ”E os correios, Bõhm? Quem transportará os diamantes?”. Bõhm adiantou: ”Justamente, Kiefer. Disponho de correios. Correios que ninguém poderá localizar ou prender. Correios que não tomam o avião, nem o barco, nem qualquer meio de transporte conhecido, e que nunca se sujeitarão a uma alfândega ou a algum controlo”. Eu fitava-o sem abrir a boca. Convidou-me então a ir com ele a Bayanga, no oeste, para me apresentar aos seus ”passadores”. Aí, na planície, não vi mais do que milhares de cegonhas que iam voar até à Europa. O suíço emprestou-me o seu binóculo e indicou uma cegonha que trazia um anel de prata. Disse-me: ”Há vinte anos, Kiefer, que tomo conta destas cegonhas. Quando elas regressam à Europa no mês de Março, acolho-as, alimento-as e ponho anéis nas crias. Há vinte anos que estudo a sua migração, os seus ciclos de existência, uma data de elementos deste género que me apaixonam desde a infância. Agora, os meus estudos irão servir-nos sobremaneira. Olha para aquela ave”. Designava-me uma ave guarnecida de anel. ”Imagina por instantes que deposito no seu anel um ou vários diamantes em bruto. O que acontecerá? Dentro de dois meses, os diamantes estarão na Europa, ao abrigo de um ninho específico. É matemático. As cegonhas voltam todos os anos, sem falha, ao mesmo ninho. Se alargarmos o método a todas as cegonhas com anel, poderemos assim acondicionar milhares de pedras preciosas sem nenhum problema. Na Primavera, reencontro estas aves e recupero os diamantes. E só me resta ir vendê-los a Antuérpia”. De súbito, o projecto do suíço tomava forma. Perguntei: ”Qual será o meu papel?”. Bõhm respondeu: ”Durante a época de exploração, desvias os melhores diamantes. Em seguida, vais a Bayanga e enfias estas pedras nos anéis das aves. Fornecer-te-ei uma espingarda e balas anestesiantes. És um bom atirador, Kiefer. Uma tal manobra não te exigirá mais do que uma ou duas semanas. E haverá dez mil dólares para ti, todos os anos”. Era uma miséria, em comparação com os lucros que uma tal manigância podia render. Mas o suíço não estava sozinho no golpe. Compreendi o que devia ter-se passado. O projecto vinha de outro lado. Era ideia do cirurgião, o médico da selva. Tinha-nos à sua mercê e podia obrigar-nos a realizar este tráfico. A mesma rede estava a ser montada do lado leste, com van Dõtten no meu papel, na África do Sul. Víamo-nos entalados, rapaz, e ao mesmo tempo íamos ficar muito ricos. Disse: ”Alinho”. Conheces o resto. A experiência dos diamantes funcionou lindamente. Todos os anos empacotei um milhar de diamantes pequenos nas patas das cegonhas. Transferiam a minha parte para uma conta numerada na Suíça. Corria tudo às mil maravilhas, tanto a leste como a oeste. Até ao passado mês de Abril...
Kiefer calou-se. Os seus lábios produziram um ruído de sucção e todo o seu corpo se arqueou, dando a impressão de ser aspirado por uma dor interior. Caiu para trás e depois deitou-me um olhar de esguelha, lá do fundo das suas órbitas negras:
- Desculpa, rapaz. É a hora do biberão.
Tirou de cima da mesínha a seringa e um dos frascos e extraiu uma dose de morfina sob a forma de ampola. Preparou a injecção em escassos gestos. As mãos não lhe tremiam. Pegou numa borracha acastanhada, esticou o braço esquerdo e arregaçou a manga. Tinha o braço constelado de manchas escuras e granulosas, como crostas de sangue seco que tivessem desenhado curiosos atóis num mar leitoso. Com mão destra, apertou o garrote segurando a seringa entre os lábios. As veias intumesceram logo. Usando a extremidade da agulha, tacteou cada veia, procurando o melhor ponto de ataque. De súbito, enterrou a agulha. Contraiu-se sob o efeito do produto e concentrou-se no seu gesto. O crânio pelado atravessou um raio de sol e brilhou num lampejo esbranquiçado, como uma pedra fluorescente. As suas articulações ossudas moveram-se debaixo da pele. Os segundos passaram. Em seguida, Kiefer desanuviou-se. Soltou um risinho sufocado e a sua cabeça voltou para a sombra.
Reflecti nas últimas palavras do checo. Sim, eu conhecia o resto. Em Abril, as cegonhas de Leste não tinham regressado. Bõhm entrara em pânico e enviara os seus esbirros. Os dois homens percorreram a rota das cegonhas e não encontraram nada. Só tinham matado iddo, o único que poderia informá-los. Mais tarde, Max Bõhm tivera a ideia de me enviar ao longo da mesma pista, com os dois búlgaros na minha peugada, incumbidos de me eliminarem quando me tornasse demasiado ”curioso”. Condenara-me assim, na simples esperança de eu descobrir um ínfimo pormenor acerca das cegonhas. A questão essencial permanecia intacta: porquê eu? Talvez Kiefer pudesse dar-me uma resposta. Como se lesse os meus pensamentos, foi ele que indagou:
- Mas tu, rapaz, por que seguiste as aves?
- Agia por ordem de Bõhm.
- Por ordem de...
Kiefer deu uma gargalhada negra e viscosa - um estrépito horrível, cavernoso - e filamentos anegrados espalharam-se de novo pela camisa. Repetia:
- Por ordem de Bõhm. .. por ordem de Bõhm... Cobri estes gorgolejos:
- Ignoro por que motivo ele me escolheu. Não dispunha de qualquer experiência ornitológica e, sobretudo, não pertencia ao vosso sistema. Mas Bõhm lançou-me de certo modo contra vocês, como um cão num jogo de assassinos.
Kiefer suspirou:
- Tudo isso, agora, já não é assim tão grave. De qualquer maneira, estávamos tramados.
- Tramados?
- Bõhm morrera, rapaz. E, sem ele, o estratagema já não funcionava. Só Bõhm conhecia os ninhos, os números. Levou a chave do segredo para o túmulo. E a nós por tabela. Porque já não servíamos para nada e sabíamos demasiado.
- Nós, quem?
- Eu, van Dõtten, os búlgaros.
- Foi por isso que te escondeste em Bayanga?
- Sim. O mais depressa possível. Mal cheguei aqui, porém, a doença fisgou-me. Ironia do destino, rapaz. A Sida aos sessenta anos, não é de rebentar a rir?
- E van Dõtten?
- Não sei por onde anda. Que vá para o diabo!
- Que te ameaça, Kiefer?
- O sistema, o médico, sei lá... Pertencíamos a uma coisa mais vasta, mais internacional, percebes? Por mim, há dez anos que vegeto no meu buraco. Seria completamente incapaz de te revelar alguma coisa sobre o assunto. Bõhm foi sempre o meu único contacto.
- O nome Mundo único não te diz nada?
- Vagamente. Têm uma missão perto da Sicamine. Uma freira que trata os pigmeus. Eu não me ocupo desse género de tretas.
As operações sem anestesia e os roubos de corações não pertenciam ao universo de Kiefer. Apesar de tudo, insisti:
- Sikkov possuía um passaporte das Nações Unidas; era possível que trabalhasse, sem tu saberes, para o Mundo único?
- Sim. Talvez.
- Estás ao corrente do assassinato de Rajko Nicolitch, um cigano de Sliven, na Bulgária, perpetrado em Maio último?
- Não.
- E do de Gomun, uma menina pigmeia de Zoko, próximo da Sicamine, há dez dias?
Kiefer endireitou-se.
- Próximo da Sicamine?
- Não te armes em inocente, Kiefer. Sabes muito bem que o médico voltou à RCA- Até utilizou o teu helicóptero.
Kiefer baqueou outra vez no fundo da cama. Murmurou:
- Decididamente, sabes muitas coisas, rapazote. Há dez dias, Bonafé mandou-me um recado. O doutor voltara a Bangui. Procurava sem dúvida os diamantes.
- Os diamantes?
- A colheita deste ano. É preciso que as pedras levantem voo, dê lá por onde der. - Kiefer gargalhou. - Mas o doutor não me encontrou.
Retorqui, por bluf.
- Não te encontrou porque não te procurou.
O checo soergueu-se de novo:
- Que estás para aí a dizer?
- Ele não veio por causa dos diamantes, Kiefer. Aos seus olhos, o dinheiro não passa de um meio, de um elemento de segunda ordem.
- Então por que se deslocou a este cu de judas de negros?
- Veio a pensar em Gomun, para roubar o coração da menina pigmeia.
O doente cuspiu: - Com a breca! Não acredito.
- Vi o corpo da menina, Kiefer.
O checo pareceu meditar.
- Ele não veio por minha causa. Mas que gaita... Afinal posso morrer descansado.
- Ainda não morreste, Kiefer. Tornaste a ver esse doutor?
- Não, nunca mais lhe pus a vista em cima.
- Sabes o nome dele? -já te disse que não. É francês?
Fala francês, é tudo o que sei. Sem sotaque?
Sem sotaque.
Qual é o aspecto físico dele?
Um tipo alto. Fuças magras, testa desguarnecida, cabelo grisalho. Um autêntico carão de pedra.
É tudo?
Não me maces mais, rapaz.
Onde se esconde esse médico, Kiefer? Algures no mundo.
Bõhm sabia onde parava o médico? -Julgo que sim.
A minha voz tremia: - Onde?
- Não sei.
Empurrei a cadeira e levantei-me. O calor invadira o quarto, um calor de brasa. Kiefer guinchou:
- E o nosso contrato, velhaco? Fitei-o nos olhos: - Não te afias.
Estendi o braço e levantei o cão da Glock. Kiefer silvou:
- Dispara, rapaz.
Ainda hesitei. De repente distingui a forma da granada sob o lençol, e o dedo do checo a engatar a espoleta. Uni os punhos e disparei uma única vez. O mosquiteiro estremeceu. Kiefer explodiu num ruído abafado, salpicando o mosquiteiro de sangue e miolos negros. Ouvi lá fora o alvoroço das cegonhas que levantavam voo precipitadamente.
Ao cabo de uns instantes, arredei as abas de tule. Kiefer já não era mais do que uma carcaça oca derramada sobre a almofada, uma pasta de sangue, carne e estilhas de ossos. A granada, intacta, estava metida nas dobras do lençol. Descortinei minúsculos diamantes e anéis de ferro esmigalhados naquele visco humano - a ”colheita” do ano. Abandonei ali aquela fortuna, mas tirei um dos anéis metálicos.
Saí para o corredor. A mulher mbati, acordada em sobressalto, acorria gesticulando, com as crianças atrás. Ria por entre lágrimas: o monstro fora aniquilado. Afastei-os de mim à cotovelada. Nas paredes, os lagartos ainda galopavam como uma moldura atroz, formigante e verdinhenta. Pulei para o exterior. O sol deteve-me. Ofuscado, desci os degraus a cambalear e larguei a Glock sobre a terra escarlate.
Tudo acabara - tudo começara.
Lá longe, diante de mim, no meio das ervas altas, Tina corria ao meu encontro.
Quatro dias depois, ao alvorecer, regressava eu a Paris. Estávamos a 30 de Setembro. O meu amplo apartamento do bulevar Raspail pareceu-me pequeno e abafadiço. Perdera o hábito dos espaços circunscritos. Recolhi o correio das duas últimas semanas e encaminhei-me para o escritório a fim de escutar as mensagens do atendedor. Reconheci as vozes de amigos e de desconhecidos, desconcertados com a minha ausência de vários meses. Não havia nenhuma mensagem de Dumaz. Este silêncio era um tanto estranho. A outra singularidade era uma nova chamada da Nelly Braesler. Em vinte e cinco anos de educação à distância, nunca me contactara tão amiúde. Qual seria o motivo desta súbita atenção?
Eram seis da manhã. Deambulei pelo apartamento e senti uma espécie de vertigem: a irrealidade de me ver assim, vivo, no meio do conforto, após os acontecimentos que acabava de enfrentar. Desfilaram as imagens dos últimos dias africanos. Beckés e eu a enterrar na planície o corpo de Otto Kiefer, enrolado no mosquiteiro sanguinolento - com os seus diamantes. O interrogatório dos polícias de Bayanga, a quem explicara que Otto Kiefer se suicidara com a pistola automática que guardava debaixo da almofada. O adeus a Tina, a quem me unira uma última vez, à beira do rio.
A minha viagem a África projectara luz, mas também suscitara trevas. O testemunho de Otto Kiefer encerrava o caso dos diamantes. Dois dos protagonistas principais tinham morrido. Van Dõtten escondia-se sem dúvida em qualquer sítio da África do Sul. Sarah Gabbor ainda andava por aí, provavelmentejá com os seus diamantes vendidos. Ajovem era agora rica, mas corria perigo. Devia haver neste momento assassinos a seguir-lhe o rastro. A teia dos diamantes desembocava nesta única dúvida - mas a rede alada já se esfumara de uma vez para sempre.
Restava o ”médico” africano, o instigador de todo o caso. Há quinze anos, pelo menos, que um homem roubava corações e praticava operações sem anestesia em vítimas inocentes, por esse mundo fora. A hipótese de un tráfico de órgãos era evidente, mas vários pormenores levavam a supor uma verdade mais complexa. Por que motivo o tal cirurgião agia com tamanho sadismo O que o faria proceder a uma selecção tão rigorosa, à escala do planeta, quando afinal um tráfico de órgãos poderia instalar-se num só dos países abrangidos? Procuraria um grupo tecidual específico?
De momento, eu só dispunha de duas pistas importantes. Primeira pista: o doutor” e Max Bõhm tinham-se conhecido na floresta equatorial entre 1972 e 1977, ao acaso das expedições do suíço. Assim, o cirurgião residira no Congo ou na República Centro-Africana - e nem sempre morara no fundo da selva. Eu podia seguir as suas pisadas graças às alfândegas e aos hospitais dos dois países - mas como coligir estas informações, sem nenhum poder oficial? Também podia interrogar os especialistas em cirurgia cardíaca na Europa. Um clínico capaz de realizar o transplante de Max Bõhm em plena floresta, no ano de 1977, era excepcional. Devia ser possível encontrar sinais da passagem de semelhante virtuoso, francófono e exilado no interior de África. Lembrei-me da Dra. Catherine Warel, que efectuara a autópsia de Max Bõhm e depois ajudara Dumaz no seu inquérito.
A segunda pista era o Mundo único. O assassino servia-se desta vasta máquina de análises e de informações, sem o conhecimento dos respectivos dirigentes, para identificar as suas vítimas através do planeta. No terreno, utilizava helicópteros, as tendas esterilizadas e outros meios logísticos dos centros de tratamento. Para agir assim, o homem ocupava sem dúvida um cargo relevante no seio da organização. Logo, era urgente que me fosse propiciado o acesso ao organigrama do MU Ao cruzar estes elementos com os dados africanos, talvez surgisse um nome, resplandecente de todas as coincidências. Uma vez mais, eu esbarrava na minha posição não-oficial. Não tinha qualquer poder, qualquer missão específica. Dumaz prevenira-me: não se punha facilmente em xeque uma organização humanitária reconhecida à escala mundial.
Numa perspectiva mais profunda, o meu inquérito pessoal marcava passo. Sentia-me destroçado, tolhido de remorsos e empurrado para uma solidão que nunca se me afigurara tão entranhada. A minha sobrevivência devia-se agora a uma espécie de milagre. Impunha-se que apelasse o mais depressa possível às instâncias policiais para enfrentar o último elo de sangue.
Sete da manhã. Liguei para Hervé Dumaz no seu domicílio. Nenhuma resposta. Preparei chá e sentei-me na sala, ruminando as minhas ideias sombrias. Vi o meu correio amontoado em cima da mesa baixa - convites, cartas de colegas universitários, revistas intelectuais e jornais... Peguei nos Le Monde dos últimos dias e percorri-os distraidamente.
Alguns instantes mais tarde, lia estupefacto este artigo:
HOMICíDIO NA BOLSA DOS DIAMANTES
No dia 27 de Setembro de 1991 foi cometido um homicídio nas instalações da célebre Beurs von Diamanthandel, em Antuérpia. Numa das salas superiores da Bolsa dos Diamantes, umajovem israelita, Sarah Gabbor, armada de uma pistola automática da marca austríaca Glock, abateu um inspector federal suíço, de nome Hervé Dumaz. Ninguém conhece ainda os móbiles da jovem, nem a proveniência dos diamantes excepcionais que ela viera vender nesse dia.
Na manhã de 27 de Setembro de 1991, às nove horas, na Beurs von Diamanthandel, tudo se desenrola como habitualmente. Os serviços abrem, as normas de segurança são aplicadas e os primeiros ”vendedores” chegam. É aqui, e nas outras Bolsas de Antuérpia, que se vendem e compram os 20 % da Produção diamantífera que não utilizam o circuito tradicional controlado pelo império sul-africano De Beers.
Por volta das dez e trinta, uma jovem alta e loura chega ao primeiro andar e penetra na sala principal, munida de uma malinha de mão em cabedal. Encaminha-se para o escritório de um negociante e estende-lhe um envelope branco contendo várias dezenas de diamantes bastante pequenos, mas de uma pureza excepcional. O comprador, de origem israelita (que deseja conservar o anonimato), reconhece a jovem. Há já uma semana que, de dois em dois dias, ela vem vender a mesma quantidade de diamantes, que apresentam sempre uma grande qualidade.
Hoje, porém, intervém outra personagem. Um homem de cerca de trinta anos aproxima-se da mulher e murmura-lhe umas palavras ao ouvido. Ela vira-se logo e saca da malinha uma pistola automática. Dispara sem hesitar O homem cai fulminado com uma bala na testa.
A jovem tenta fugir ao mesmo tempo que ameaça os vigilantes acorridos à sala. Começa então a recuar, mostrando uma grande calma. Ignora, porém, a sofisticada engrenagem da segurança da Bolsa. Ao atingir o átrio do primeiro andar, onde se encontravam os ascensores, erguem-se bruscamente à sua volta uns vidros blindados que lhe barram todas as saídas. Apanhada na armadilha, a mulher ouve então a tradicional mensagem a exortá-la a largar a arma e a render-se. A assassina obedece. Os polícias belgas dominam-na imediatamente, alcançando o habitáculo por via dos ascensores.
Desde esse momento que os serviços de segurança da Beurs von Diamanthandel e os polícias belgas - entre os quais especialistas em matéria de tráfico de diamantes - visionam a cena do homicídio gravada pelas câmaras de vigilância. Ninguém entende as razões deste episódio inopinado. As identidades dos protagonistas acabam por mergulhar a polícia na incerteza. A vítima é um inspector federal suíço chamado Hervé Dumaz. Este jovem polícia, de 34 anos de idade, exercia as suasfunções na esquadra de Montreux. O que fazia em Antuérpia numa altura em que pedira duas semanas de férias? E por que não prevenira os serviços de segurança da Bolsa, se tencionava prender a jovem?
Outros tantos mistérios que a personalidade da jovem ainda vem agravar mais. Sarah Gabbor, jovem kibbutznik de 28 anos de idade, vivia na região de Beit She’an, na Galileia, próximo da fronteira jordana. Por ora, ig-nora-se como esta mulher, trabalhadora num viveiro de peixes, podia deter uma talfortuna em diamantes...
Amarrotei o jornal num gesto de raiva. A violência voltava a surgir. O sangue voltava a correr. Apesar dos meus conselhos, Dumaz quisera desempenhar o seu papel como muito bem lhe soara. Fizera uma intimação a Sarah, tal qual um polícia canhestro. Sarah não hesitara por um só instante e abatera o inspector. Dumaz estava morto, Sarah no calabouço. única consolação para este epílogo sangrento: a minha jovem amante achava-se agora em segurança.
Levantei-me e fui para o escritório. Maquinalmente, postei-me atrás da janela e afastei as cortinas. Os jardins do Centro Americano, contíguos ao meu prédio, tinham sido arrasados. Os sulcos escuros dos bulldozers ocupavam o lugar das matas e dos maciços de arbustos. Só algumas árvores resistiam ainda. Eu devia tornar a ver Sarah Gabbor com a maior das urgências. Seria esta a minha primeira ocasião efectiva de entrar em contacto com a polícia internacional.
A manhã deslizou tão depressa como um fogo na selva. Fiz telefonemas - informações internacionais, embaixadas, tribunais -, depois enviei vários faxes a fim de conseguir a autorização que me importava: visitar Sarah na prisão de mulheres de Ganshoren, nos arredores de Bruxelas. Por volta do meio-dia, já efectuara todas as diligências possíveis. Mais de uma vez, deixara entender que estava na posse de elementos essenciais que poderiam lançar uma nova luz sobre o caso. jogava tudo numa única cartada: ou me levavam a sério e as consequências da minha decisão já não me pertenciam, ou me consideravam louco e era inútil qualquer requerimento.
Às onze horas telefonei novamente para as informações internacionais. Poucos segundos depois, marcava os doze algarismos do hospital de Montreux onde o corpo de Max Bõhm fora autopsiado no passado dia 20 de Agosto, e pedi para falar com a Dra. Catherine Warel. Ao cabo de um minuto ouvi um ”alô!” enérgico.
- Sou Louis Antioche, doutora Warel. Talvez se lembre de mim...
- Não - retorquiu a mulher.
- Encontrámo-nos há mais de um mês, na sua clínica. Sou o homem que descobriu o corpo de Max Bõhm.
- Ah, sim. O ornitólogo...
Não percebi se ela se referia a mim ou a Bõhm.
- Exactamente. Doutora Warel, preciso de uns dados importantes ligados a esse óbito.
Ouvi o estalido metálico de uma tampa de isqueiro.
- Diga lá. Se eu puder ajudá-lo...
Aprestava-me a falar quando compreendi que as minhas palavras pareciam totalmente absurdas.
- Não posso exprimir-me por telefone. Gostava de a ver, o mais depressa possível.
Catherine Warel era uma mulher de sangue-frio. Respondeu sem hesitar:
- Pois bem, venha hoje à tarde, se lhe der jeito. À hora do almoço parte um avião de Orlly para Lausana. Esperarei por si na clínica, às quinze horas.
- Lá estarei. Obrigado, doutora.
Antes de sair, marquei o número do Dr. Djuric, em Sófia. Após um quarto de hora de tentativas infrutuosas, ouvi finalmente o aparelho a chamar. Ao fim de dezassete toques, uma voz ensonada respondeu-me, em búlgaro:
- Está lá?
Era a voz de Milan Djuric, interrompendo sem dúvida a sesta.
- Doutor, daqui fala Louis Antioche, o homem das cegonhas.
Após uns segundos de silêncio, a voz respondeu:
- Antioche? Tenho pensado muito em si, desde o nosso primeiro encontro. Ainda anda a investigar a morte de Rajko?
- Mais do que nunca. E julgo ter encontrado o assassino.
- Não me diga...
- Sim. Pelo menos o rastro. O assassinato de Rajko inscreve-se num sistema perfeitamente organizado, cujas razões profundas continuam a escapar-me. Mas estou seguro de uma coisa: a rede estende-se a todo o planeta. Aconteceram noutros países alguns crimes da mesma ordem. E preciso da sua ajuda para travar este massacre.
- Em que posso ser-lhe útil?
- Necessito de conhecer o grupo HLA de Rajko.
- É muito fácil. Ainda conservo o relatório da autópsia. Não desligue.
Ouvi ruídos de gavetas a abrir, de papéis folheados.
- Aqui está. Segundo o código internacional, trata-se do tipo Aw,9,3 - B37,5
Cerrou-se um punho no meu coração. O mesmo grupo que o de Gomun. Uma tal similitude não podia ser uma coincidência. Balbuciei:
- Trata-se de um grupo raro ou possuidor de uma qualquer característica?
- Não faço ideia. Não é a minha especialidade. De resto, existe uma infinidade de grupos teciduais e não vejo...
- Tem acesso a um telecopiador?
- Sim. Conheço o director de um centro e...
- É capaz de me fazer chegar ainda hoje, por fax, o seu relatório de autópsia?
- Com certeza. Mas afinal o que se passa?
- Primeiro, tome nota dos meus números, doutor.
Ditei os meus números de telefone e de telecopiador pessoais e em seguida continuei.
- Escute, Djuric. Um cirurgião dedica-se a roubar corações por esse mundo fora. Assisti eu próprio, nas profundezas de África, à autópsia de uma rapariguinha cujo corpo nada tinha a invejar ao de Rajko. O homem de quem lhe falo é um monstro, Djuric. É um animal feroz, mas creio que ele actua de acordo com uma lógica secreta, compreende?
A sua voz grave ecoou no aparelho:
- Conhece a identidade desse homem?
- Não. Mas tinha razão numa coisa que me disse, Djuric: é um cirurgião exímio.
- Qual é a nacionalidade dele?
- Francesa, talvez. Pelo menos é um francófono.
O anão parecia reflectir. Volveu:
- O que vai fazer?
- Prosseguir as investigações. Aguardo a todo o momento alguns elementos essenciais.
- Não preveniu a polícia?
- Ainda não.
- Antioche, gostava de lhe fazer uma pergunta.
- Qual?
Uma série de interferências perturbaram a ligação. O anão elevou a voz:
- Quando me visitou, aqui em Sófia, disse-lhe que o seu rosto me lembrava alguém.
Não respondi. Djuric insistiu:
- Meditei demoradamente em tal parecença. Julgo que se trata de um médico que conheci em Paris. Algum membro da sua família exerce medicina?
- O meu pai era médico.
- O nome dele também era Antioche?
- Claro que sim, Djuric, mas olhe que tenho pressa.
O anão continuou:
- Sabe se ele exerceu em Paris nos anos sessenta?
Senti um aperto no coração. Uma vez mais, a evocação do meu pai provocava em mim uma surda angústia.
- Não. O meu pai trabalhou sempre em África. Lá muito longe, a voz de Djuric ecoou:
- Ainda está vivo? O seu pai ainda está vivo?
As interferências recrudesciam. Pus cobro à conversa replicando aos sacões: - Morreu no último dia de 1965. Um incêndio. juntamente com a minha mãe e o meu irmão. Morreram. Os três.
- Foi nesse incêndio que as suas mãos ficaram queimadas? Assentei a palma no telefone, cortando a ligação. A referência aos meus pais suscitava-me sempre um medo e um pavor descontrolados. E não compreendi as perguntas do anão. Como teria conhecido o meu pai em Paris? Djuric estudara na rua dos Saints-Pères, mas nos anos sessenta ainda não passava de uma criança.
Onze e trinta. Apanhei um táxi e mandei seguir a toda a brida para o aeroporto. Li outros jornais durante o voo. A maior parte deles ainda consagravam um breve artigo ao caso dos diamantes, mas não ofereciam nada de novo. Mencionavam sobretudo as dificuldades diplomáticas de semelhante intriga, resultantes do assassínio de um polícia suíço por uma jovem israelita numa cidade belga, e citavam os embaixadores da Suíça e de Israel em Bruxelas, que exprimiam a sua ”consternação” e a sua ”vontade de esclarecer o mais depressa possível os motivos deste drama”.
Aluguei um carro em Lausana e parti na direcção de Montreux. O mal-estar desencadeado pelas perguntas de Djuric aterrorizava-me. O emaranhado da situação afligia-me, apesar de eu apreender ao mesmo tempo toda a urgência e acuidade da acção a levar a cabo. E além do mais, ainda pairavam as minhas recordações amalgamadas de África. A noite resplendente junto de Tina, os meandros da pista de Bayanga, as cintilações da chuva - e ainda o corpo de Gomun, o rosto de Otto Kiefer, os horrores conjugados dos destinos de Max Bõhm, do seu filho, da irmã Pascale... E o cirurgião sempre em pano de fundo. Sem nome nem rosto.
Na clínica, a Dra. Warel esperava por mim. Reencontrei o seu rosto barroso e os seus fortes cigarros franceses. Ataquei sem rodeios:
- Doutora, depois da morte de Max Bõhm colaborou com o inspector Dumaz em torno de certas averiguações.
- Exacto.
- Também trabalhei com o inspector. E agora preciso de informações.
A mulher contraiu a face. Acendeu um cigarro, soprou uma baforada e perguntou:
- A que propósito, visto que não é da polícia? Respondi de uma assentada:
- Max Bõhm era meu amigo. Inquiro sobre a sua vida passada, a título póstumo. E certos elementos têm uma importância capital.
- Por que razão o inspector Dumaz não me contacta pessoalmente?
- Hervé Dumaz morreu, doutora. Morto por uma bala, em circunstâncias que estão ligadas ao falecimento de Bõhm.
- Que história é essa?
- Compre os jornais de hoje, doutora. Verificará se eu digo a verdade.
Catheríne Warel fez uma pausa. Após uns segundos, declarou numa voz menos segura:
- Qual é o seu papel em tudo isto?
- Actuo sozinho. Mais cedo ou mais tarde, a polícia tomará o inquérito a seu cargo. Aceita ajudar-me?
Uma nuvem de fumo escapou-se dos lábios da Dra. Warel. Por fim, perguntou:
- O que deseja saber?
- Recorda-se sem dúvida de que Max Bõhm fizera um transplante cardíaco. A intervenção cirúrgica parecia datar de há vários anos. Ora, a senhora nunca encontrou o rastro dessa operação, nem na Suíça nem em qualquer outro lado. Também não descobriu o nome do médico assistente do ornitólogo.
- É exacto.
-Julgo ter descoberto a pista do cirurgião que praticou a intervenção. A sua personalidade é assombrosa, até mesmo aterradora.
- Explique-se melhor.
- Esse homem é um especialista em cirurgia cardíaca, um virtuoso. Mas é igualmente um perigoso criminoso.
- Ouça, senhor Antioche, não sei se faço bem em escutá-lo. Tem provas do que afirma?
- Algumas. Desde o nosso primeiro encontro, viajei através do mundo e reconstituí a existência de Max Bõhm. Assim, descobri as condições em que se realizou o seu transplante cardíaco.
- Onde e como?
- Na África Central, em 1977. Enxertaram no corpo de Bõhm o coração do seu próprio filho, morto na ocasião.
- Meu Deus... Está a falar a sério?
- Lembre-se, doutora: a excepcional compatibilidade entre o corpo do recebedor e o órgão transplantado. Lembre-se também da cápsula de titânio: o cirurgião ”assinou” deliberadamente o seu acto com este artefacto, a fim de manter Max Bõhm sob a sua férula.
Catherine Warel acendeu outro cigarro. O seu sangue-frio aguentava-se. Quis saber:
- Conhece esse homem?
- Não. Mas ele continua a operar um pouco por toda a parte. Ignoro as razões que o movem, masjá roubou e ainda hoje rouba corações a pessoas vivas, através de todas as latitudes. Dispõe de meios ilimitados.
- Um tráfico de órgãos, quer você dizer...
- Nada sei. Uma intuição segreda-me que se trata de outra coisa. O homem é louco. E de uma crueldade alucinante. Warel tornou a expelir uma baforada:
- Aonde pretende chegar?
- Ele opera as suas vítimas sem anestesia.
A médica baixou a cabeça. O cigarro passava-lhe de uma mão para a outra, ambas recurvadas. Finalmente, tirando um bloco de notas da sua bata, Warel murmurou:
- O que... o que posso fazer por si?
- Esse cirurgião exercia, em Agosto de 1977, na fronteira entre o Congo e a República Centro-Africana. Na época, dispunha de uma espécie de dispensário, em plena floresta equatorial. Penso que já andava escondido, mas a sua presença deixou forçosamente alguns indícios. Este médico precisava de material, de medicamentos... Tenho a certeza de que pode encontrar o rastro dele. Repito-lhe que se trata de um perito.
Catherine Warel escreveu em pormenor as minhas informações. Em seguida, pergunta:
- Qual é a nacionalidade de origem dele?
- É francófono.
- Sabe em que data se instalou em África?
- Não.
-Julga que ainda lá está?
- Não.
- Tem alguma ideia do sítio onde pode encontrar-se actualmente?
- Suponho que colabora com o Mundo único.
- A organização humanitária?
- Creio que utiliza as estruturas da associação para levar a bom termo as suas experiências diabólicas. Doutora Warel, garanto-lhe que estou a contar a verdade. Cada dia que passa é um novo pesadelo. O homem continua, entende? Talvez agora mesmo, algures no mundo, um garoto inocente sofra torturas às mãos dele.
Warel replicou, no seu tom desabrido:
- Não exagere. Vou fazer uns telefonemas. Espero obter as informações que me pediu ainda esta noite, o mais tardar amanhã. Não lhe prometo nada.
- Acha que se pode arranjar a lista dos médicos do Mundo único?
- Deve ser difícil. O Mundo único é uma organização muito fechada. Vou ver o que posso fazer.
- Se não estou enganado, doutora, e se o assassino não mudou de nome, os dois dados coincidirão. Actue o mais depressa possível.
Warel cravou de repente em mim os seus olhos negros. Permanecíamos de pé, no recanto de um corredor forrado de linóleo reluzente. Retribuí-lhe o olhar - tenso mas confiante. Sabia que ela não preveniria a polícia.
Regressei a Paris cerca das vinte e duas horas. Não recebera qualquer resposta das embaixadas nem dos tribunais, nem qualquer mensagem da Dra. Warel. Só Djuric me telecopiara o relatório da autópsia de Rajko. Tomei um duche muito quente e cozinhei uns ovos mexidos, acompanhados de salmão e batatas. Preparei um chá russo, castanho e fumegante, e depois enfiei-me na cama, esperando que o sono viesse - e com a Glock ao alcance da mão. Por volta das vinte e três horas, o telefone tocou. Era Catherine Warel.
- Então? - disse eu.
- Por enquanto, nada. Devem enviar-me amanhã de manhã a lista dos médicos franceses ou francófonos que exerceram na África Central entre 1960 e 1980. Falei igualmente com alguns velhos amigos que poderão informar-me mais em pormenor. No tocante ao Mundo único, não há maneira de obter a lista dos médicos. Mas nem tudo está perdido. Conheço um jovem oftalmologista que acaba de ser contratado pela organização. Prometeu ajudar-me.
Um malogro em toda a linha. E o tempo não parava. Dissimulei a minha decepção.
- Muito bem, doutora. Agradeço-lhe a confiança que depositou em mim.
- Não tem de quê. Pode crer que bati a muitas portas. O que me contou hoje ultrapassa tudo o que é imaginável.
- Dar-lhe-ei todas as chaves... assim que eu próprio as tiver.
- Tenha cuidado consigo. Telefono-lhe amanhã. Desliguei, com a alma esmorecida. Só me restava esperar. Ainda não amanhecera quando o telefone tornou a tocar.
Atendi, olhando para o relógio de quartzo colocado em cima da mesinha-de-cabeceira. 5:24. - Alô! - resmunguei.
- Louis Antioche?
Era uma voz muito grave, com forte sotaque oriental.
- Quem fala?
- Itzhak Delter, o advogado de Sarah Gabbor. Soergui-me na cama.
- Muito bem - disse eu distintamente.
- Estou a telefonar-lhe de Bruxelas. julgo que ligou ontem para a embaixada- Deseja ver a Sarah Gabbor, não é?
- Exactamente.
O homem pigarreou. A sua voz ressoava como a caixa de um contrabaixo.
- Deve compreender que, no estado actual das coisas, é muito difícil.
- Preciso de falar com ela.
- Posso perguntar-lhe quais são os seus laços com a menina Gabbor?
- Laços pessoais.
- É judeu?
- Não.
- Há quanto tempo conhece Sarah Gabbor?
- Um mês, mais ou menos.
- Conheceu-a em Israel?
- Em Beit She’an.
- E pensa poder comunicar-nos algumas informações importantes?
- Creio que sim.
O meu interlocutor parecia reflectir. Por fim, disse bruscamente, numa longa tirada grave:
- Senhor Antioche, este caso é complexo, muito complexo, e cria-nos a todos grandes embaraços. Falo do Estado israelita, mas também dos outros governos implicados. Estamos convencidos de que o acto imponderado de Sarah Gabbor constitui apenas a parte visível do icebergue. A ponta de uma teia muito mais importante, de envergadura internacional.
”Acto imponderado” para qualificar uma bala de Glock em cheio na testa - Delter tinha o sentido do eufemismo. O advogado prosseguiu:
- A polícia de cada país está a investigar este caso. Por ora, toda a informação é confidencial. Não posso prometer-lhe de modo nenhum que irá ver a menina Gabbor. Em compensação, acho que seria bom que viesse a Bruxelas, a fim de trocarmos impressões. Há coisas de que não convém falar por telefone.
Peguei num bloco de notas:
- Dê-me a sua morada.
- Estou na embaixada de Israel, ruaJoseph-11, ri’ 71.
- Importa-se de repetir o seu nome?
- Itzhak Delter.
- Senhor Delter, sejamos claros: se puder ajudá-lo, fá-lo-ei sem hesitar. Mas com uma condição: a certeza de ver Sarah Gabbor,
- Essa decisão não é da minha alçada. Mas esforçar-nos-emos por obter uma autorização. Se os investigadores entenderem que o vosso encontro pode beneficiar o desenrolar do inquérito não haverá problema. julgo que tudo depende da sua cooperação e das informações que possui...
- Não, caro senhor. É troca por troca. Primeiro, Sarah. Depois o meu testemunho. Estarei em Bruxelas ao princípio da tarde.
Delter suspirou, um ronco de reactor:
- Cá o esperaremos.
Fui logo tomar um duche, barbear-me e vestir-me. Escolhi o fato completo Hachett dos grandes dias, cinzento e sedoso, com botões de madrepérola. Reservei um carro de aluguer e chamei um táxi a fim de me dirigir ao concessionário.
Restavam-me mais de trinta mil francos do pacote de Bõhm. A isto acrescentava-se a minha renda mensal de vinte mil francos, que recebera em Agosto e Setembro. Ao todo, setenta mil francos que me permitiam organizar todas as viagens indispensáveis para catrafilar o ”doutor”. Além do mais, ainda dispunha de numerosos vales de aluguer e bilhetes de avião em primeira classe, facilmente permutáveis.
Quando fechei a porta de casa, uma descarga de adrenalína percorreu-me os membros.
Às nove horas já rodava pela auto-estrada do norte, a caminho de Bruxelas. No céu espraiavam-se urdiduras
sombrias, como os fios de um dínamo nefasto. Ao longo dos quilómetros a paisagem mudava. Apareciam edifícios de tijolos vermelhos semelhantes a crostas de sangue que se insinuassem através dos campos. Tinha a impressão de penetrar nos estratos interiores de uma melancolia pardacenta e sem retorno. Dir-se-ía que o desespero crescia ali, entre as ervas daninhas e as vías-férreas. Ao meio-dia atravessei a fronteira. Uma hora mais tarde entrava em Bruxelas.
A capital belga surgiu-me como uma cidade tristonha e sem brilho., Uma Paris de bracinhos curtos que tivesse sido desenhada por um artista sensaborão. Encontrei a embaixada sem dificuldade. Era um prédio de arquitectura moderna betão cinzento e varandas rectilíneas. Itzhak Delter esperava por mim no átrio, pois pareceu-me ouvir a sua voz. Era um colosso de um metro e noventa, pouco à vontade no seu fato impecável. Ostentando um rosto maciço, de maxilas agressivas e cabelo louro cortado à escovinha, este homem lembrava mais um soldado vestido à paisana do que um advogado subtil e calejado, aguerrido nos assuntos diplomáticos. Tanto melhor. Preferia lidar com um homem de acção. Não iríamos perder tempo com parlengas inúteis.
Após uma revista formal, Delter fez-me penetrar num pequeno gabinete com uma decoração anónima. Convidou-me a sentar. Recusei. Falámos assim durante uns minutos, de pé em frente um do outro. O advogado tinha mais um bom palmo de altura do que eu, mas sentia-me seguro de mim, concentrado na minha raiva e nos meus segredos. Delter anunciou-me que conseguira autorização para o meu encontro com Sarah Gabbor. Adiantei-lhe, por meu lado, que dispunha de vários elementos que poderiam esclarecer o caso dos diamantes e absolver ajovem enquanto cúmplice directa dos traficantes.
Céptico, Delter quis interrogar-me antes de nos deslocarmos à prisão. Recusei. O homem cerrou os punhos e os seus maxilares moveram-se sob a pele, Ao cabo de alguns segundos, descontraiu-se e sorriu, Disse na sua voz mais profunda: - Você é um duro, Antioche. Vamos. O meu carro está lá em baixo. Aguardam-nos às 14 horas na prisão de Ganshoren.
No caminho, perguntou-me claramente se era amante de Sarah. Torneei a questão. Voltou a perguntar-me se era judeu. Abanei a cabeça. Esta ideia parecia obcecá-lo. Delter não fez mais perguntas. Explicou-me que Sarah Gabbor era uma ”cliente” muito difícil. Recusava-se a falar a toda a gente, inclusive a ele, seu advogado. Admitiu igualmente que ela manifestara o desejo de me ver quando soubera que eu ia a Bruxelas. Reprimi um frémito de emoção. Assim, contra tudo e todos, o nosso fio de amor continuava a resistir.
Os subúrbios ocidentais de Bruxelas poderiam chamar-se ”de Profundis”. Foi uma viagem ao coração da tristeza e do tédio. As casas castanhas compunham uma estranha chusma de órgãos escuros e luzidios, como que petrificados no seu sangue coagulado.
- Chegámos - disse Delter parando em frente de um vasto edifício cujo portão se engastava em colunas quadradas de granito. Duas mulheres, armadas de metralhadoras, montavam guarda. Por cima delas lia-se gravado na pedra: Tribunal de Mulheres.
Anunciaram-nos. Poucos segundos depois, uma mulher de uns cinquenta anos veio ao nosso encontro. A sua cara ostentava um arzinho mau e suspeitoso. Apresentou-se: Odette Wilessen, directora da prisão. Com um forte sotaque flamengo e fixando-me com os seus olhos de pássaro aziago, repetiu-me:
- Sarah Gabbor manifestou o desejo de o ver. A verdade é que ela se acha incomunicável até nova ordem, mas o senhor Delter e o juiz de instrução entendem que a sua visita pode revelar-se positiva. Trata-se de uma pessoa difícil, senhor Antioche. Não quero complicações suplementares. Saiba pôr-se no seu lugar.
Demos alguns passos, depois deparou-se-nos um jardinzinho. - Não saiam daqui - ordenou Odette Wilessen antes de se afastar. Esperámos ao pé de uma fonte de pedra. Esta atmosfera, silenciosa e compassada, fazia lembrar a de um convento. Nada, aliás, deixava adivinhar que estávamos num estabelecimento penitenciário. Rodeavam-nos edifícios cinzentos, de arquitectura clássica, sem a mais pequena grade nas janelas. A directora voltou acompanhada de duas guardas, vestidas de azul, que mediam mais uns bons vinte centímetros do que ela. Odette Wilessen pediu-nos que a seguíssemos. Ladeámos um renque de árvores e depois abriu-se uma porta.
Ao fundo de um comprido corredor erguia-se um alto pórtico envidraçado no próprio interior do edifício. Largos varões chatos de um azul-celeste estriavam o vidro espesso e sujo. Compreendi o que tornava a prisão invisível até então. Era um edifício dentro de um edifício. Um bloco de ferros e ferrolhos, cercado de pedra. Aproximámo-nos. A um sinal da directora, uma mulher accionou uma fechadura do outro lado. Ressoou um tinido. Penetrámos assim num outro espaço, confinado, enevoado, onde raiavam néons brancos e ofuscantes.
O corredor continuava. A tinta azul recobria tudo: as grades, que barravam asjanelas estreitas, as paredes, a meia altura, as fechaduras, os painéis metálicos... Aqui, a claridade só penetrava a grande custo e os néons alvacentos deviam lampejar o ano inteiro, dia e noite. Seguimos as guardas. Reinava um silêncio pesado e absoluto, como uma pressão das grandes funduras.
No fim do corredor foi preciso virar à direita, enfiar uma nova chave, abrir uma nova porta. Transpus uma entrada cuja parte superior era envidraçada. Surgiram rostos de mulheres. Afadigavam-se em torno de pequenas máquinas de costura. Os olhares fixaram-se em mim. Observei-as por uns instantes, por meu turno, depois baixei o olhar e prossegui o caminho. Sem me aperceber, parara a fim de escrutar estes seres aprisionados e ler neles a marca das suas faltas, como um sinal de nascença que lhes estigmatizasse o rosto. Sucederam-se várias portas atrás das quais íamos descobrindo outras actividades - informática, olaria, trabalho do couro...
Continuámos. Por entre varões chatos e esbeiçados, avistei uma mancha de luminosidade, cinzenta e desconsolada. Muros enegrecidos circundavam um pátio a céu aberto, de macadame gretado, no qual se atravessava uma rede de voleibol. O céu de chumbo assemelhava-se a um muro adicional. Aqui, mulheres iam e vinham de braço dado, fumando cigarros. Uma vez mais, os seus olhos envolveram-me. Pupilas de seres feridos, humilhados, mortificados. Pupilas obscuras e profundas, onde assomava a acuidade de um desejo entremeado de ódio. ”Vamos”, disse uma das guardas. Itzak Delter puxou-me pelo braço. Sucederam-se outras fechaduras, outros tinidos.
Alcançámos finalmente o parlatório. Era um grande compartimento, ainda mais escuro e mais sujo. O espaço estava dividido ao meio, no sentido do comprimento, por uma barreira de vidros cujos contornos de madeira e banquinhas alardeavam ainda a sinistra cor azul-celeste de um enxoval de bebé. O arquitecto da prisão julgara sem dúvida judicioso acrescentar esta pincelada delicada aos acabamentos do edifício. O nosso grupo deteve-se no limiar da sala. Odette Wilessen voltou-se para mim:
- Senhor Antioche, repito-lhe que esta entrevista é excepcional. Sarah Gabbor é uma mulher perigosa. Nada de fantasias, senhor. Nada de fantasias.
Acenando com o queixo, indicou-me a direcção a seguir ao longo das divisórias. Avancei sozinho, cruzando lugares vazios.
O coração batia-me cada vez com mais força à medida que os vidros desfilavam. De súbito, ultrapassei uma sombra. Voltei para trás e senti as pernas a fraquejar. Deixei-me cair num banco, em frente do vidro. Do outro lado, Sarah olhava-me com o rosto fechado a sete chaves.
A minha kibbutznik usava agora o cabelo curto. A sua grenha loura transformara-se num lindo corte em esquadria, delicado e liso. À sombra dos néons, a sua tez empalidecera. Mas as maçãs do rosto continuavam a disputar a primazia à doçura dos olhos. Era realmente a mesma selvagenzinha bela e tenaz que eu conhecera no meio das cegonhas. Pegou no auscultador de comunicação.
- Estás com má cara, Louis.
- Tu estás magnífica, Sarah.
- Quem te fez essa cicatriz no rosto?
- É uma recordação de Israel.
Sarah encolheu os ombros:
- Eis no que dá meter o nariz em tudo.
Envergava uma ampla camisa azul, de mangas abertas. Apetecia-me beijá-la, perder os meus lábios nos contornos do seu corpo, devorar-lhe as linhas ásperas e soltas. Houve um silêncio. Perguntei:
- Como tens passado, Sarah?
- Assim, tal como estou agora.
- Alegra-me ver-te.
- Chamas a isto ver-me? Nunca tiveste o sentido das realidades...
Passei a mão por baixo da banquinha a fim de verificar se havia microfones escondidos.
- Conta-me tudo, Sarah. Desde o teu desaparecimento em Beit She’an.
- Vieste armado em espião?
- Não, Sarah, muito pelo contrário. Autorizaram-me a visitar-te porque prometi fornecer-lhes informações que permitem absolver-te.
- O que vais dizer-lhes?
- Tudo o que puder demonstrar o teu ínfimo papel no tráfico dos diamantes.
A kibbutznik tornou a encolher os ombros.
- Sarah, vim para te ver, Mas também para saber. Deves dizer-me a verdade. Isso pode salvar-nos, a ti e a mim. Desatou a rir e lançou-me um olhar glacial. Tirou lentamente do bolso um maço de cigarros, acendeu um e começou:
- És culpado de tudo o que aconteceu, Louis. Mete bem isto na cabeça. Tudo, ouviste? Na última noite, em Beit She’an, quando me falaste dos anéis das cegonhas, lembraste-me certos factos a que não prestara atenção. Depois da morte do Iddo, arrumei todas as suas coisas. No quarto, mas também no seu laboratório, como ele chamava ao barraco onde tratava as cegonhas. Ao deslocar o material, descobri um pequeno alçapão debaixo de um estrado, no qual estavam escondidos centenas de anéis metálicos cobertos de sangue. Na altura, quase não reparei nestes pertences ensebados. No entanto, por respeito pela sua memória e pela sua paixão de ornitólogo, deixei o saco de lona no lugar, dentro do alçapão. Depois esqueci este pormenor. Muito mais tarde, quando me explicaste a tua ideia sobre a carga introduzida nos anéis, fez-se luz na minha cabeça. Lembrei-me do saco do Iddo e compreendi: o Iddo desvendara o que tu procuravas. Por isso é que se armara e desaparecia dias inteiros. Todos os dias eliminava cegonhas e guardava os anéis. Nessa noite, preferi não te dizer nada. Esperei pacientemente pela alvorada, a fim de não despertar as tuas suspeitas. Em seguida, quando abalaste para o aeroporto Ben Gurion, voltei à cabana e exumei os pedaços de ferro. Abri um anel servindo-me de um alicate. De repente, saltou-me um diamante para a mão. Não acreditava no que os meus olhos viam. Abri logo outro anel. Havia lá dentro várias outras pedras, mais pequenas. Repeti o acto umas dez vezes. Encontrava sempre diamantes. O milagre reproduzia-se até ao infinito. Virei o saco e urrei dejúbilo: estavam ali pelo menos mil anéis.
- E então?
- Então, dei comigo rica, Louis. Dispunha dos meios para fugir, esquecer os peixes, a lama e o kibbutz. Mas, antes de mais nada, queria ter a certeza. Preparei o saco de viagem, meti lá dentro umas armas e apanhei o autocarro para Netanya, a capital dos diamantes.
- Segui o teu rastro até lá.
- Como vês, não ganhaste muito com isso. Não respondi. Sarah prosseguiu:
- Dirigi-me a um lapidário que me comprou um diamante. O homenzinho enganou-me, mas não conseguiu ocultar-me a extraordinária qualidade das pedras. Pobre velho! Lia-se-lhe a emoção no rosto. Concluí assim que estava na posse de uma fortuna. Nesse momento, a minha excitação era tanta que nem sequer reflecti na situação, nem sequer me lembrei dos chanfrados que traficavam pedras preciosas por interpostas cegonhas. Sabia apenas uma coisa: os tipos tinham matado o meu irmão e ainda andavam à procura dos diamantes. Aluguei um carro e segui à desfilada até Ben Gurion, onde tomei o primeiro avião para a Europa. Em seguida, continuei a viajar e escondi os diamantes em lugar seguro.
- E depois?
- Passou uma semana. Os produtores independentes vendem geralmente os seus diamantes em Antuérpia. Devia então ir para lá e jogar pela certa. Discreta e rapidamente.
- Tu... andavas sempre armada?
Sarah não pôde conter um sorriso. Apontou-me o indicador, enquanto o polegar manejava uma pistola imaginária.
- A senhora Glock acompanhou-me por toda a parte. Por breves instantes, pensei: ”Sarah enlouqueceu.
- Decidi vender tudo ao desbarato em Antuérpia - continuou -, em saquinhos de dez ou quinze pedras, de dois em dois dias. No primeiro dia foi a um velho judeu, no género do lapidário de Netanya. Consegui 50.000 dólares em poucos minutos. Passados dois dias voltei e mudei de interlocutor: mais 30000. À terceira vez, quando estava a abrir o envelope, uma mão pousou no meu ombro. Ouvi: ”Nem um só gesto. Considere-se detida”. Senti o cano nas costas. Perdi a cabeça, Louis. Num clarão repentino, vi as minhas esperanças reduzidas a nada. Vi o meu dinheiro, a minha felicidade e a minha liberdade dissiparem-se. Virei-me, de Glock em punho. Não queria disparar, apenas dominar aquele polícia de merda que julgava poder aniquilar os meus projectos. Mas o idiota assestava na minha direcção uma Beretta de 9 mm com o cão levantado. Não me restava outra escolha: disparei uma única vez, em cheio na testa. O tipo estatelou-se no chão, só com metade do crânio. - Sarah deu uma gargalhada sinistra. - Nem sequer aflorara ainda o gatilho. Recuperei as minhas pedras, ao mesmo tempo que apontava a arma aos diamantistas. Estavam aterrorizados. Pensavam sem dúvida que ia roubá-los. Saí às arrecuas. julguei por momentos que podia safar-me. Foi então que os vidros se fecharam. Fiquei presa naquela maldita redoma.
- Li tudo isso nos jornais.
- A história não acaba aqui, Louis.
Sarah esmagou nervosamente o cigarro, mais soberana do que nunca.
- O homem que tentou apanhar-me era um agente federal suíço chamado Hervé Dumaz. Para as autoridades belgas, o caso tornava-se bastante complicado. Um polícia suíço, morto na Bélgica por uma israelita. E uma fortuna em diamantes, cuja proveniência constituía um enigma. Os belgas começaram a interrogar-me. Depois, o meu advogado, Delter, tomou o lugar deles. Em seguida apresentou-se uma delegação suíça. É claro que eu não disse nada a ninguém. Mas cogitei: o que terá levado um pequeno inspector de Montreux a seguir-me até Antuérpia, se ninguém sabia que eu estava na Bélgica? Lembrei-me então do ”polícia estrangeiro” de que me falaras e compreendi que foras tu que puseras Dumaz na’minha peugada, enquanto continuavas a correr atrás das tuas cegonhas e dos teus traficantes. Compreendi que foras tu, meu filho da puta, a atirar-me esse polícia às canelas.
Empalideci e balbuciei: - Estavas em perigo. Dumaz devia proteger-te até ao meu regresso...
- Proteger-me?
Desatou a rir tão alto que uma das guardas se aproximou, de arma em punho. Fiz-lhe um sinal para nos deixar.
- Proteger-me? - repetiu Sarah. - Então não percebeste quem era Dumaz? Que ele trabalhava com os traficantes que procuravas?
O som das últimas palavras atingiu-me em pleno ventre. Senti o sangue enregelar-se-me. Antes de poder abrir a boca já Sarah continuava:
- Desde que andam a interrogar-me, aprendi muito sobre esses diamantes. Muito mais do que alguma vez poderia contar-lhes. Delter veio certo dia com um funcionário da Interpol, um austríaco chamado Simon Rickiel. Contaram-me umas histórias de veras instrutivas para me convencerem a cooperar. Em especial a de Hervé Dumaz, polícia corrupto que arredondava os fins de mês efectuando missões de segurança mais ou menos dúbiasjunto de sociedades ainda mais dúbias. Durante o rebuliço, numerosas testemunhas reconheceram Dumaz. Declararam que ele acompanhava Bõhm a Antuérpia todas as Primaveras, ajudando-o a vender pedras do mesmo género das minhas: uns diamantes pequenos, de uma qualidade única. A história começa a esboçar-se na tua cabeça? - Sarah tornou a rir e acendeu outro cigarro. - Conheci muitos papalvos, mas como tu, nunca.
O meu coração quase se partia de tanto bater. Ao mesmo tempo, tudo ia ficando mais claro: a rapidez com que Dumaz obtivera as informações sobre o velho Max, a sua convicção de que o caso assentava todo num tráfico de diamantes, a sua obstinação em enviar-me à República Centro-Africana. Hervé Dumaz conhecia Max Bõhm, mas ignorava a natureza da cabala. De modo que me utilizara, na minha ingenuidade, para reencontrar os diamantes desaparecidos e deslindar as engrenagens do sistema. Um nó de engulho apertava-me a garganta.
- Quero ajudar-te, Sarah.
- Não preciso da tua ajuda. O meu advogado vai tirar-me daqui. - Riu-se. - Não tenho medo dos belgas, nem dos suíços. Somos os mais fortes, Louis. Nunca te esqueças disto.
O silêncio impôs-se novamente. Ao cabo de uns instantes, Sarah retomou a palavra, muito baixinho:
- Louis, nunca falámos de uma coisa...
- De quê?
A voz dela estava ligeiramente enrouquecida.
- No teu país, as cegonhas levam os bebés?
Naquele momento não entendi bem a pergunta. Por fim, respondi.
- Sim... Sarah.
- Sabes por que contam isso?
Remexi-me no assento e aclarei a voz. Dois meses antes, quando preparava a minha viagem, estudara esta questão particular. Contei a Sarah a lenda germânica segundo a qual a deusa Holda fizera da cegonha a sua emissária. Esta divindade guardava nos lugares mais húmidos as almas dos defuntos caídas do céu com a água da chuva. Reencarnava-as então em corpos de crianças e encarregava a cegonha de as levar aos pais.
Também expliquei que por toda a parte, na Europa ou no Próximo Oriente, se acreditava nesta virtude peculiar das aves de bico cor de laranja. Até no Sudão as aves tinham fama de trazer as crianças. Mas ali venerava-se uma cegonha negra, que depunha bebés negros sobre o telhado das cubatas... Contei outros episódios, descrevi outros pormenores, mesclados de encanto e ternura. Foi um instante de puro amor, tão breve quanto eterno. Quando terminei a minha narrativa, Sarah murmurou:
- As nossas cegonhas só nos trouxeram violência e morte. É pena, pois eu não me oporia...
- A quê?
-A crianças. Contigo.
A emoção irrompeu no meu coração como um polvo de fogo. Ergui-me de um pulo e deitei as minhas mãos queimadas ao tabique transparente. Gritei: - Sarah! - A minha mulher selvagem baixou os olhos e fungou. De súbito, levantou-se e ciciou:
- Vai-te embora, Louis. Vai-te, depressa.
Mas foi ela que se pôs em fuga, sem se voltar. Como uma Eurídice moderna - no fundo de um inferno de madeira azul-celeste.
Quero falar com Simon Rickiel.
Itzhak Delter franziu o sobrolho. A sua mandíbula em forma de bigorna entreabriu-se:
- Rickiel, o tipo da Interpol?
- Sim - repliquei. - É com ele que desejo abrir-me. Delter meneou os ombros. Distingui o amarfanhamento do seu casaco. Estávamos no jardim da prisão de Ganshoren.
- Não tínhamos combinado assim. É comigo que deve falar. O seu testemunho interessa-me a mim antes de mais ninguém: devo apreciar a importância dele para a defesa da minha cliente.
- Não compreendeu, Delter. Não estou a ludibriá-lo. As minhas revelações só têm um objectivo: poupar a Sarah uma pena de prisão máxima. Mas este caso desenvolve-se num plano internacional. O meu testemunho deve ser igualmente escutado por um homem da Interpol que conheça a situação.
Acompanhei as minhas últimas palavras com um sorriso. Delter ficou aborrecido. De facto, o meu pedido visava evitar qualquer manipulação da sua parte. As palavras de Sarah tinham-me feito compreender que Rickiel possuía muitas informações. Com cegonhas ou sem cegonhas, Max Bõhm achava-se na mira da polícia internacional já há algum tempo. Na presença do funcionário, eu falaria para alguém que estava no segredo dos deuses. Delter rabujou na sua voz grave:
- Não mangue comigo, Antioche. Ninguém troça impunemente de um advogado do meu calibre.
- Deixe-se de ameaças e chame Rickiel. Direi tudo a ambos.
Delter precedeu-me a caminho do portão de granito. Entrámos no seu carro e atravessámos os arredores sob uma morrinha fina até Bruxelas. O advogado não disse uma palavra durante o trajecto. Finalmente estacionámos diante de um imenso edifício preto datado do século passado, entalado entre dois relógios. A fachada era rasgada por altas janelas, já iluminadas. Guardas armados enfrentavam a chuva sem vacilar, com coletes de protecção.
Metemos por uma larga escada. No segundo andar, Delter enveredou por uma enfiada de corredores intermináveis que alternavam o parquet rangente e os tapetes puídos. Parecia sentir-se em sua própria casa. Por fim, penetrámos num pequeno gabinete de polícia, modelo estandardizado - paredes sujas, luz baça, móveis de metal e máquinas de escrever do período anterior à guerra. Delter conversou durante alguns minutos com dois homens em mangas de camisa, quase tão calmeirões como ele e armados com uma Magnum 38 a tiracolo. Perguntei a mim mesmo que género de casaco podia dissimular tais engenhos.
Os homens lançaram-me um olhar carrancudo. Um deles pôs-se atrás de uma secretária e fez as perguntas habituais: apelido, nome, data de nascimento, estado civil... Quis em seguida tomar as minhas impressões digitais. Por pura provocação, ergui nas barbas dele as minhas palmas rosadas, lisas, anónimas. Esta visão causou-lhe um choque. Resmungou umas desculpas e depois sumiu-se noutro gabinete. Entretanto, Itzhak Delter também se eclipsara.
Esperei uns largos momentos. Ninguém se dignava explicar-me o que eu fazia ali exactamente. Permaneci sentado, a ruminar os meus remorsos. A entrevista com Sarah transtornara-me. Os meus erros - e as suas consequências - revoluteavam no meu espírito sem que eu pudesse alegar o que quer que fosse em minha defesa. O crime, quer o pratiquemos ou o defrontemos, é um ofício que exige intuição e experiência. Não bastava ser-se suicidário para se ser eficaz.
Delter reapareceu. Vinha acompanhado por uma curiosa personagem, um homem pequenino e de feições miúdas, cuja metade superior da cara estava vidrada por uns óculos grossos. Esta silhueta franzina afundava-se num blusão de camionista com fecho de correr e numas pesadas calças de veludo canelado. A apoteose eram os sapatos: trazia uns enormes sapatos desportivos, com solas espessas e altas linguetas. Uns autênticos ténis de cantor rap. Por último, à cintura, escondida nas pregas do blusão de malha, discernia-se uma pistola automática: uma Glock 17, modelo 9 nun parabellum - a cópia perfeita da arma de Sarah.
Delter inclinou-se e fez as apresentações:
- Louis, aqui tem Simon Rickiel, funcionário da Interpol. No caso que nos diz respeito, é ele o nosso interlocutor privilegiado. - Voltou-se para o homenzinho. - Simon, apresento-lhe Louis Antioche, a testemunha de que lhe falei.
A utilização do meu nome próprio demonstrava que o advogado estava decidido ajogar forte. Levantei-me e inclinei-me por minha vez, mantendo as mãos atrás das costas. Rickiel brindou-me com um breve sorriso. O seu rosto dir-se-ia cortado ao meio: os lábios arqueavam-se, ao passo que toda a parte superior se mantinha imóvel, como que aprisionada numa campânula. Imaginava de outra maneira os agentes da polícia internacional.
- Sigam-me - disse o austríaco.
O seu gabinete não se assemelhava aos outros compartimentos. As paredes eram de uma brancura imaculada, o parquet era escuro e brilhante. Erguia-se no centro um largo móvel de madeira sobre o qual se podia ver o mais moderno material informático. Reparei num terminal da Agência Reuter
- que difundia toda a actualidade mundial em tempo real e um segundo terminal que dava outras informações, de certo exclusivas da Interpol.
- Sentem-se - ordenou Rickiel acolhendo-se atrás da secretária.
Puxei de uma cadeira. Delter sentou-se um pouco mais atrás. De modo abrupto, o austríaco resumiu:
- Bem. O Dr. Delter explicou-me que deseja depor de livre vontade. Parece que está na posse de elementos susceptíveis de nos elucidar acerca deste caso e porventura de atenuar os indícios de culpabilidade que recaem sobre Sarah Gabbor. É de facto assim?
Rickiel exprimia-se em francês, sem a sombra de qualquer sotaque.
-Absolutamente - respondi.
Fez uma pausa, Tinha a cabeça metida nos ombros e os braços cruzados sobre a secretária. Os ecrãs dos computadores reflectiam-se nos seus óculos como outras tantas pequenas luzes leitosas. Prosseguiu:
- Consultei a sua Ficha, senhor Antioche. O seu ”perfil” é, pelo menos, atípico. Declara ser órfão. Não é casado e vive sozinho. Tem trinta e dois anos e nunca exerceu qualquer actividade profissional. A despeito disto, vive na opulência e reside num apartamento do bulevar Raspail, em Paris. Explica tal conforto aludindo aos cuidados especiais que lhe dedicam os seus pais adoptivos, Nelly e Georges Braesler, ricos proprietários na região de Puy-de-Dôme. Declara igualmente levar uma existência retirada e sedentária. No entanto, regressou agora de uma viagem através do mundo que parece ter sido algo movimentada. Verifiquei certos elementos, Encontramos o seu rastro, designadamente em Israel e na República Centro-Africana, em condições muito particulares. último paradoxo: exibe um aspecto de dândi requintado, mas tem o rosto atravessado por uma cicatriz muito recente, já para não falar das suas mãos. Quem é afinal, senhor Antioche?
- Um viajante extraviado num pesadelo.
- O que sabe sobre este caso?
- Tudo. Ou quase.
Rickiel emitiu uma risada lá do meio dos ombros.
- A coisa promete. É capaz de nos explicar, por exemplo, a origem dos diamantes que a menina Sarah Gabbor tinha consigo? Ou por que motivo Hervé Dumaz pretendia prender a jovem sem prevenir os serviços de segurança da Beurs von Diamanthandel?
- Absolutamente.
- Muito bem. Somos todos ouvidos e...
- Espere - interrompí-o. - Vou exprimir-me aqui sem advogado nem protecção e, ainda por cima, num país estrangeiro. Que garantias pode oferecer-me?
Rekiel riu-se de novo. Os seus olhos mostravam-se frios e imóveis no meio dos clarões ínformáticos.
- Fala como um culpado, senhor Antioche. Tudo depende do seu grau de implicação neste caso. Mas posso garantir-lhe que, na qualidade de testemunha, não será inquietado nem atormentado por contrariedades administrativas. A Interpol está habituada a trabalhar em casos que misturam as culturas e as fronteiras. É só em seguida, consoante os países envolvidos, que as coisas se complicam. Fale, Antioche, que nós faremos a selecção. Por ora, vamos escutá-lo de modo informal. Ninguém anotará ou gravará as suas palavras. Ninguém inserirá o seu nome no processo, seja qual for o pretexto. Seguidamente, de acordo com o interesse das suas informações, pedír-lhe-ei que repita o seu depoimento a outras pessoas do nosso serviço. Tornar-se-á então testemunha oficial. De qualquer modo, afianço-lhe que, se não matou nem roubou ninguém, poderá sair da Bélgica com toda a liberdade. Convém-lhe assim?
Engoli em seco e tracei rapidamente um risco mental sobre os meus crimes pessoais, Resumi os principais acontecimentos dos dois últimos meses. Contei tudo e, ao sabor da narrativa, ia tirando do meu saco os objectos que davam corpo às minhas palavras: as fichas de Max Bõhm, o caderninho de Rajko, o relatório da autópsia de Djuric, o diamante que Wilin me dera em Ben Gurion, a certidão de óbito de Philippe Bõnm, o atestado redigido pela irmã Pascale, a ”cassete da confissão” de Otto Kiefer... Em jeito de epílogo, pousei em cima da secretária os primeiríssimos elementos descobertos na Suíça: as fotografias de Max Bõhm e a radiografia do seu coração, dotado de uma cápsula de titânio,
A narrativa durou mais de uma hora. Esforcei-me por evidenciar a dupla intriga - a dos ”ladrões de diamantes” e a do ”ladrão de corações”
- e como estas duas redes estavam ligadas entre si. Tive igualmente o cuidado de situar o Papel de cada um, em especial o de Sarah, implicada sem saber nesta aventura, e o de Hervé Dumaz, um crápula que se servira de mim e que teria abatido Sarah sem sombra de dúvida depois de ter recuperado as pedras preciosas.
Calei-me, observando as reacções dos meus dois interlocutores. O olhar de vidro de Rickiel sondava as minhas peças probatórias em cima da secretária. Um sorriso pendia-lhe dos lábios. Quanto a Delter, dir-se-ia que os seus maxilares ameaçavam despregar-se completamente. O silêncio cortou-me as palavras. Rickiel acabou por afirmar:
- Formidável. A sua história é simplesmente formidável. Senti o rosto afoguear-se: - Não acredita em mim?
- Digamos que só a 80 por cento. Naquilo que nos conta há uma data de coisas que devem ser verificadas, ou até demonstradas, As suas ”provas”, como lhes chama, são muito relativas. As garatujas de um cigano, as conclusões de uma freira que não é médica, um diamante isolado, são magros indícios, e não provas sólidas. Quanto à cassete, vamos escutá-la. Mas sabe com certeza que este tipo de documento não é admissível perante um tribunal. Resta o eventual testemunho de NieIs van Dõtten, o seu geólogo sul-africano.
A vontade de partir os óculos ao policiazinho tornou-se de repente irreprimível. Mas, obscuramente, eu também admirava o seu sangue-frio. A minha aventura aturdiria qualquer outro ouvinte - e Rickiel avaliava, media e sopesava cada aspecto da história. O agente continuou:
- Seja como for, agradeço-lhe, Antioche. Esclareceu numerosos pontos que nos moíam o juízo há já algum tempo.
O homicídio de Dumaz não surpreendeu verdadeiramente os nossos serviços, pois suspeitávamos deste tráfico de diamantes há pelo menos dois anos e dispúnhamos de sérias presunções. Conhecíamos os nomes: Max Bõhm, Hervé Dumaz, Otto Kiefer, NieIs van Dõtten. Conhecíamos a rede: o triângulo Europa/República Centro-Africana/África do Sul. Mas faltava-nos o essencial: os correios, ou seja, as provas. Nos últimos dois anos, os intervenientes neste sistema estiveram sob vigilância. Nenhum deles seguiu pessoalmente a rota dos diamantes. Hoje, graças a si, sabemos que utilizavam aves. Pode parecer uma coisa extraordinária, mas já vi muito pior. Os meus parabéns, Antioche. Possui tenacidade e coragem a rodos. Se um dia se cansar das cegonhas, não hesite em vir procurar-me: terei trabalho para si.
A feição tomada pela conversa deixava-me boquiaberto.
- E... é tudo?
- Não, claro que não. As nossas conversas só agora começaram. Amanhã poremos tudo isto por escrito. O juiz de instrução deve igualmente ouvi-lo. O seu depoimento talvez permita enviar Sarah Gabbor para Israel, enquanto se espera pelo julgamento dela. Não faz ideia de como os criminosos desejam cumprir a pena no seu próprio país. Passamos a vida a transferir prisioneiros. Isto no tocante aos diamantes. Sou muito mais céptico a respeito do seu misterioso médico.
Levantei-me com o rosto em fogo:
- Não percebeu patavina, Rickiel. A teia dos diamantes está encerrada. Tudo acabou no que se lhe refere. Em contrapartida, um cirurgião tresloucado continua a roubar órgãos por esse mundo fora. O tarado persegue um objectivo tenebroso, incansável, nefando. Tenho a certeza, E dispõe de todos os meios para agir. Só existe esta urgência: deitar a mão a esse bandalho. Prendê-lo antes que mate vezes sem conta, antes que possa realizar as suas experiências,
- Se não se importa, serei eu a ajuizar das urgências - redarguiu Rickiel. - Fique esta noite em Bruxelas. Os meus homens reservaram-lhe um quarto no Hotel Wepler. O luxo não é excepcional, mas é bastante confortável. Ver-nos-emos amanhã.
Dei um murro em cima da secretária. Delter levantou-se de um pulo, Rickiel não se mexeu. Berrei:
- Rickiel, anda um monstro à solta no mundo! Mata e tortura crianças. O senhor pode emitir mandados de busca, consultar terminais, comparar milhares de acontecimentos, entrar em contacto com as polícias do mundo inteiro. Faça-o, irra!
- Amanhã, Antioche - murmurou o agente, de lábios frementes. - Amanhã. Não insista.
Saí batendo com a porta.
Algumas horas mais tarde eu ainda ruminava a minha cólera no quarto do hotel. Sob diversos aspectos, deixara-me ludibriar. Dera informações à O1PC-1nterpol e praticamente não obtivera nada em troca - pelo menos do ponto de vista do inquérito. A minha única consolação era o facto de o meu depoimento ir desempenhar um papel positivo a favor de Sarah.
Para além disto, o serão multiplicava os impasses. Ligara para o meu atendedor: nenhuma mensagem. Telefonara à Dra. Warel: sem resultado.
Às vinte e trinta, o telefone tocou. Levantei brutalmente o auscultador. A voz que ouvi surpreendeu-me:
- Antioche? Fala Rickiel. Gostaria de falar consigo.
- Quando?
- Agora. Estou aqui em baixo, no bar do hotel.
O bar do Wepler era alcatifado de rosa-escuro e assemelhava-se mais a uma alcova destinada a prazeres duvidosos. Avistei Simon Rickiel numa poltrona de couro, atabafado no seu espesso blusão de lã. Mordia com circunspecção umas azeitonas e tinha um copo de whisky pousado diante de si. Perguntei-me se ainda traria a sua Glock - e se teria sido tão rápido como eu a empunhá-la.
- Sente-se, Antioche. E pare de se armar em duro. já deu provas suficientes.
Sentei-me e pedi um chá chinês. Observei Rickiel por instantes. O seu rosto continuava tragado pelas grossas lentes abauladas, tal qual a imagem de um espelho meio-embaciado.
- Vim dar-lhe os parabéns uma vez mais.
- Dar-me os parabéns?
- Sabe, tenho uma certa experiência do crime. Conheço o valor da sua investigação. Efectuou um bom trabalho, Antioche. A sério. A minha proposta de o contratar não era uma brincadeira.
- Não me diga que só veio por causa disso!
-já se vê que não. Esta tarde, compreendi a sua decepção. Você pensa que não dei o devido crédito à história do cirurgião criminoso.
-Justamente.
- Não podia agir de outra maneira. Pelo menos na presença de Delter.
- Qual é a relação?
- Este lado das coisas não lhe diz respeito.
O empregado trouxe-me o chá. O perfume pesado e acre lembrou-me subitamente o húmus da floresta.
- Acredita então nas minhas palavras?
- Sim. - Rickiel não parava de revirar as azeitonas com um palito. - Mas, como lhe disse, este aspecto requer um importante trabalho de averiguação. Além do mais, era bom que abrisse ojogo comigo.
- Abrisse o jogo?
- Não me disse tudo. Não se apuram tantos elementos sem fazer estragos.
Um gole de chá propiciou-me o ensejo de esconder o meu mal-estar. Optei pela táctica da inocência:
- Não estou a perceber, Rickiel.
- Muito bem. Esta tarde falámos de Max Bõhm, Otto Kiefer, Nieis van Dõtten. Autênticos criminosos, mas também sexagenários de certo modo inofensivos, há-de concordar comigo, Ora, estes homens andavam protegidos. Havia Dumaz, mas havia ainda outros. Muito mais temíveis. Tenho alguns na manga. Vou dar-lhe nomes. Dir-me-á o que eles lhe evocam no espírito.
Rickiel esboçou um sorrisinho irónico antes de meter uma azeitona na boca.
- MikIos Sikkov.
Um uppercut directo ao fígado. Descerrei levemente os maxilares: - Não conheço.
- Milan Kalev.
Sem dúvida o comparsa de Sikkov. Murmurei: - Quem são esses homens?
- Viajantes. Do seu género, mas menos bafejados pela sorte. Morreram os dois.
- Onde?
- Encontraram o corpo de Kalev na Bulgária, a 31 de Agosto, nos arredores de Sófia, com a garganta cortada por um caco de vidro. Sikkov morreu em Israel, a 6 de Setembro. Em território ocupado. Dezasseis balas na cara. Dois casos arquivados. O primeiro assassinato foi perpetrado quando você estava em Sófia, Antioche. O outro, quando se encontrava em Israel. Precisamente no mesmo sítio: em Balatakamp. Não acha que são acasos um tanto curiosos?
Repeti: - Não conheço esses homens.
Rickiel recomeçou a brincar com as azeitonas. Uns homens de negócios alemães acabavam de entrar no bar, dando-se palmadas nas costas e soltando gargalhadas. O agente de lábios luzidios prosseguiu:
- Tenho outros nomes, Antioche. O que sabe de Marcel Minaüs, Yéta lakovic, Ivan Tornoi?
As vítimas do massacre na gare de Sófia. Declarei, mais distintamente:
Pode crer, esses nomes não me dizem nada.
É esquisito - disse o austríaco. Em seguida bebeu um trago de álcool antes de continuar: - Sabe o que me levou a trabalhar para a Interpol, Antioche? Não foi o gosto do risco. Ainda menos o dajustiça. Simplesmente, a paixão das línguas. Interesso-me por este domínio desde a infância. Não imagina a importância das línguas no mundo do crime. Actualmente, os agentes do FBI nos Estados Unidos labutam sem descanso por dominar os dialectos chineses. É o único meio ao seu alcance para jugularem os bandos das tríades. Em suma, acontece que falo correntemente búlgaro. - Novo sorriso. - Li assim com grande atenção a certidão assinada pelo Dr. Milan Djuric. É bastante edificante, e aterrador. Estudei igualmente um relatório da polícia búlgara sobre um autêntico massacre que aconteceu na gare de Sófia a 30 de Agosto à noite. Trabalho de profissional. Por ocasião de tal matança, pereceram três inocentes, os que acabo de citar: Marcel Minaüs, Yéta lakovic e uma criança, Ivan Tornoi. A mãe deste depôs como testemunha, Antioche. E é categórica: os assassinos visavam um quarto homem, um branco, que corresponde aos seus sinais de identificação. Poucas horas mais tarde, Milan Kalev morria num entreposto, degolado como um animal.
Renunciei a beber o Lapsang.
- Continuo a não perceber - balbuciei.
Rickiel largou por seu turno as azeitonas e fitou-me bem nos olhos. As lentes reflectiam o seu copo de whisky, pareciam chispas de fogo.
- Os nossos serviços conheciam Kalev e Sikkov. Kalev era um mercenário búlgaro, mais ou menos médico, que costumava torturar as suas vítimas com um bisturi de alta frequêncía. Nenhum sangue, poucos vestígios, mas sofrimentos extremos, aplicados com refinamento. Sikkov era instrutor militar. Nos anos setenta dava formação às tropas de Idi Amin no Uganda. Era um especialista em armamento automático. Estes dois passarões eram particularmente perigosos.
Fez uma breve pausa e depois largou a sua bomba - Trabalhavam para o Mundo único.
Fingi admiração:
- Mercenários numa organização humanitária?
- Às vezes podem ser úteis, para proteger os stocks ou garantir a segurança do pessoal.
- Aonde quer chegar, Rickiel?
- Ao Mundo único. E à sua vasta hipótese.
- Há?
- Você considera que Max Bõhm vivia, melhor dizendo, sobrevivia sob o ascendente de um só homem: o cirurgião virtuoso que o salvara de uma morte certa em Agosto de 1977, não é assim?
- Absolutamente.
- Na sua opinião, este médico exercia a sua influência sobre Bõhm através do Mundo único. Por esse motivo é que o velho suíço legou toda a fortuna à organização, se não estou
em erro...
- Sim.
Rickiel mergulhou a mão no seu amplo blusão e tirou de lá uma pequena pasta de cartão donde sacou uma folha dactilografada.
- Gostaria então de lhe assinalar certos factos que, segundo creio, corroboram as suas suposições.
O espanto cortava-me a respiração.
- Também levei a cabo um inquérito sobre a associação.
O Mundo único guarda bem os seus segredos. É difícil conhecer com rigor a extensão das suas actividades, o número de médicos e dadores. Mas descobri vários factos perturbantes do lado de Bõhm. Max Bõhm entregava a maior parte dos seus torpes ganhos ao MU. Todos os anos ”dava” à associação várias centenas de milhares de francos suíços. A meu ver, estas informações estão incompletas. Bõhm utilizava vários bancos e, naturalmente, contas numeradas. Sendo assim, é difícil fazer uma ideia exacta das suas verdadeiras transferências de fundos. Mas uma coisa é certa: ele pertencia ao Clube dos 1001. Conhece sem dúvida o sistema, Antioche. O que ignora, em compensação, é que Bõhm, na época da criação do clube, doou um milhão de francos suíços, praticamente um milhão de dólares. Estava-se em 1980, dois anos após o início do tráfico de diamantes.
Estupefacção. Luz. Lampejos no meu espírito. O velho Max entregava os seus ganhos ao Mundo único, e não directamente ao ”médico”. Ou a organização se encarregava de gratificar o Monstro, ou, mais simplesmente, financiava em seu próprio nome as ”experiências” do cirurgião. Rickiel prosseguiu:
- Disse-me que Dumaz nunca conseguiu encontrar o sítio onde Bõhm recebia tratamento. Não há qualquer rastro do ornitólogo nas clínicas suíças, francesas ou alemãs. Julgo saber onde ele se submetia às análises com toda a discrição. No centro do Mundo único em Genebra, que dispõe de material médico muito eficiente. Uma vez mais, Bõhm pagava um alto preço por esta prestação, e a organização não podia negar-lhe um ”serviço” tão pequeno.
Tentei beber um gole de chá. Os meus dedos tremiam. Rickiel dera no vinte, era evidente.
- A seus olhos, o que é que isso vem provar?
- Que o Mundo único esconde indubitavelmente qualquer coisa. E que o tal ”médico” ocupa ali um cargo de grande responsabilidade, permitindo-lhe contratar homens como Kalev e Sikkov, financiar as suas próprias experiências e prestar ”serviços” ao paciente cardíaco mais precioso do mundo: o domador de cegonhas.
Rickiel escondera o seu jogo: quando lhe falara à tarde, ele já sabia mais sobre o Mundo único do que sobre o tráfico de diamantes em si. Como que lendo os meus pensamentos, confirmou:
- Antes de o encontrar, Antioche, eu conhecia os estranhos laços que uniam Max Bõhm e o Mundo único, mas não desconfiava da pista específica dos corações. Os assassinatos de Rajko e Gomun pertencem a uma série mais vasta. Desde que nos despedimos, há um bocado, procedi a uma pesquisa informática. Graças aos nossos terminais, lancei uma investigação relativa aos homicídios ou acidentes violentos ocorridos nos últimos dez anos, cuja característica seja o desaparecimento do coração da vítima, e não imagina o número de coisas que estão hoje informatizadas entre os países-membros da OlCP. O carácter único do rapto de um coração facilitou-nos as coisas. A lista saiu esta noite, às vinte horas. Nem de longe é exaustiva, pois o tal ”ladrão” opera de preferência em países que atravessam crises, ou então muito pobres, acerca dos quais nem sempre dispomos de informações. Mas a lista é suficiente. Encheu-me de arrepios. Ei-la.
A minha chávena voou em estilhas. O chá a ferver entornou-se nas minhas mãos insensíveis. Arranquei a lista das mãos de Rickiel. Era o currículo maléfico, redigido em inglês, do ladrão de órgãos:
- Gomun. Pigmeia. Sexo feminino. Nascida por volta de junho de 1976. Morta a 21108191, perto de Zoko, província de Lobaye, República Centro-Africana. Circunstâncias da morte: acidente, ataque de gorila. Particularidades: numerosas mutilações, desaparecimento do coração. Grupo sanguíneo: B Rh+. Tipo HLA: Aw193-B37,5.
- Nome: Rajko Nicolitch. Cigano. Sexo masculino. Nascido por volta de 1963, Iskenderum, Turquia. Morto a
22104191, nafloresta das Águas Claras, perto de Sliven, Bulgária. Circunstâncias da morte: homicídio. Caso não resolvido. Particularidades: mutilaçõesIdesaparecimento do coração. Grupo sanguíneo: O Rh+. Tipo HLA: Aw19,3-B37,5.
- Nome: Tasminjohnson. Hotentote. Sexo masculino. Nascido a 16 de janeiro de 1967, perto de Maseru, África do Sul. Morto a 03111190, nas imediações da mina de Waka, África do Sul. Circunstâncias da morte: ataque de fera. Particularidades: mutilações/desaparecimento do coração. Grupo sanguíneo: A Rh+. Tipo HLA: Aw19,3-B37,5.
- Nome: Hassan al Begassen. Sexo masculino. Nascido por volta de 1970, perto de Djebel al Fau, Sudão. Morto a 16103190, nas culturas irrigadas da aldeia n’ 16. Circunstâncias da morte: ataque de animal selvagem. Particularidades: mutilações/ desaparecimento do coração. Grupo sanguíneo: AB Rh+. Tipo HLA: Aw19,3-B37,5-
- Nome: Ahmed Iskam. Sexo masculino. Nascido a 5 de Dezembro de 1962, em Belêm, Territórios Ocupados, Israel. Morto a 4109188, em Beitjallah. Circunstâncias da morte: assassínio político. Caso não resolvido. Particularidades: mutilações e desaparecimento do coração. Grupo sanguíneo: O Rh+. Tipo HLA: Aw19,3-B37,5.
A lista continuava assim por várias páginas, até 1981 - data em que principiava a análise informática. Podia-se supor que remontava a muito mais longe na realidade. Diversas dezenas de crianças ou adolescentes, do sexo masculino ou feminino, haviam sido supliciados desta maneira através do mundo, tendo apenas em comum a tipagem HLA: Aw19,3-B37,5. A acuidade do sistema causava-me vertigens. Aquilo de que suspeitara ao descobrir a similitude dos grupos de Gomun e de Rajko, confirmava-se a uma escala demente. Rickiel prosseguiu, dando voz aos meus próprios pensamentos:
- Está a compreender, não é? O seu animal não se dedica ao tráfico, nem sequer a experiências incertas. A busca é infinitamente mais fina. Procura corações pertencentes a um único e mesmo grupo tecidual, em todo o planeta.
-Já... acabou?
- Não. Trouxe-lhe outra coisa.
Rickiel vasculhou no seu largo blusão de malha e retirou um saco de plástico preto. Compreendi o motivo da peça de lã: podia esconder por baixo tudo o que fosse preciso. Pousou o objecto em cima da mesa. Nova estupefacção. O saco continha carregadores Glock, calibre 45, envolvidos numa fita adesiva prateada. Interroguei-o com o olhar.
- Pensei que estas provisões poderiam ser-lhe úteis. Os stocks estão revestidos de um adesivo plúmbeo que anula o efeito dos raios X nos aeroportos. A sua arma não é um mistério, Antioche. As armas em polímeros são as novas armas dos viajantes, em especial dos terroristas. Sarah Gabbor também utilizava uma Glock, calibre 9 nun parabellum. E não se esqueça do ”acidente” de Sikkov: dezasseis balas de 45 na cara.
Eu contemplava agora os carregadores: pelo menos 150 balas de 45, outras tantas promessas de morte e de violência. Simon Rickiel concluiu numa voz sem timbre:
- já lhe disse: a O1PC-interpol costuma investigar casos complexos. Também podemos delegar sempre que necessário, a fim de ganhar tempo. Tenho a certeza de que é capaz de desencantar o ladrão de corações. Muito antes de nós, que devemos resolver o caso dos diamantes, verificar as suas declarações, encontrar van Dõtten... Há um bocado menti-lhe: o seu testemunho desta tarde foi gravado em DAT, e imediatamente retranscrito em computador. O seu depoimento está aqui, no meu bolso. Assine-o. E suma-se. Actua sozinho, Antioche. E é a sua força. Pode penetrar no Mundo único e fazer sair da toca aquele malandro. Encontre-o, encontre o homem que infligiu tais suplícios a Rajko, a Gomun, a todas essas vítimas. Encontre-o. E faça o que lhe parecer melhor.
Quando penetrei no meu quarto, o sinal luminoso do telefone estava a piscar. Levantei o auscultador e marquei o indicativo da central.
Louis Antioche, quarto 232. Há mensagens para mim? Respondeu-me um sotaque belga bem nítido:
- Senhor Antioche... Antioche... já lhe digo...
Ouvi tamborilar nas teclas do computador. Na curvatura do meu braço, as veias palpitavam e oscilavam sob a pele, como entidades independentes.
- Uma certa Catherine Warel telefonou-lhe às vinte e uma e quinze. Não estava no seu quarto.
Sufoquei de cólera:
- Pedi que me passassem as chamadas para o bar!
- O nosso serviço mudou às vinte e uma. Tenho muita pena, mas não transmitiram a ordem.
- Ela deixou algum número para eu lhe telefonar?
A voz citou-me o contacto pessoal de Catheríne Warel. Marquei logo os dez algarismos. A campainha retiniu duas vezes e ouvi a voz áspera da médica: - Estou?
- Fala Antioche. Há novidades?
- Consegui as informações. É incrível. Tinha razão em tudo. Arranjei a lista dos médicos francófonos que residiram na República Centro-Africana ou no Congo durante os últimos trinta anos. Existe um nome que pode corresponder ao seu homem. Mas que nome! Trata-se de Pierre Sénicier, o verdadeiro precursor do transplante cardíaco. Um cirurgião francês que realizou o primeiro enxerto num homem, com o coração de um macaco, em 1960.
Todo o meu corpo vibrava de estremecimentos nervosos. Sénicier. Pierre Sénicier. No meu espírito, surgiu em traços de trevas o excerto de enciclopédia que lera em Bangui: ”... em janeiro de 1960, o médico francês Pierre Sénicier implantou um coração de chimpanzé no tórax de um paciente de sessenta e oito anos chegado ao último estádio de uma insuficiência cardíaca irreversível. A operaçãofoi bem sucedida. Mas o coração enxertado sófuncionou durante algumas horas...”
Catherine Warel prosseguia:
- Ahistória deste verdadeiro génio é conhecida nos meios da Medicina. Na época, este transplante deu muito que falar, pois Sénicier desapareceu inopinadamente. Houve quem dissesse que ele tivera problemas com a Ordem dos Médicos: suspeitou-se de que realizara experiências proibidas, manipulações clandestinas. Sénicier refugiou-se na República Centro-Africana com a família. Tornou-se, ao que parece, no homem das boas causas, o médico dos negros. Uma espécie de Albert Schweitzer, se assim quiser. Sénicier pode muito bem ser o seu homem. No entanto, há um facto que não bate certo...
- Qual? - murmurei numa voz sumida.
- Disse-me que Max Bõhm foi operado em Agosto de
1977, não é verdade?
-Justamente.
- Está seguro da data?
- Seguríssimo.
- Então não pode ter sido Sénicier a efectuar a operação.
- Porquê?
- Porque em 1977 esse cirurgião já morrera. Ao findar o ano de 1965, na noite de São Silvestre, ele e a família foram agredidos por prisioneiros libertados por Bokassa, na própria noite do golpe de estado. Morreram todos, Pierre Sénicier, a esposa e os dois filhos, no incêndio que destruiu a vivenda deles. Eu não estava ao corrente, mas... Louis, fale! Louis... Louis!
Quando chega o Verão na zona árctica, os bancos de gelo estalam e abrem-se, como que a contragosto, sobre as águas negras e geladas do Mar de Bering.
Assim era o meu espírito nesse instante. A fulminante revelação de Catherine Warel fechava de repente o círculo infernal da minha aventura. Um único ser em todo o mundo podia ainda alumiar a minha sinistra lanterna- Nelly Braesler, a minha mãe adoptiva.
Acelerei e segui em direcção ao centro de França. Seis horas mais tarde, nos confins da noite, passei por ClermontTerrand e depois procurei o burgo de Víllíers, situado alguns quilómetros a leste. O relógio do painel indicava cinco e trinta. Finalmente, os faróis focaram a pequena aldeia. Virei e tornei a virar, até encontrar a casa dos Braesler. Parei junto ao muro de vedação.
Amanhecia. A paisagem, arruçada pelo Outono, assemelhava-se a uma floresta petrificada nas suas chamas. Estava tudo imbuído de uma calina indizível. Canais negros afloravam as ervas altas e as árvores desnudadas esgadanhavam o céu cinzento e liso.
Penetrei no pátio do solar que formava um U de pedra. À minha esquerda, a cem metros, distingui Georges Braesler, já de pé, no meio de largas gaiolas onde se espanejavam aves de cor cendrada. Estava de costas e não podia ver-me. Atravessei o relvado em silêncio e esgueirei-me para dentro de casa.
No interior, tudo era de pedra e madeira. Largos vãos, talhados na rocha, abriam-se para osjardins. Erguiam-se móveis de carvalho donde se libertava um forte odor a cera. Lustres de ferro forjado recortavam as suas sombras nas lajes do chão. Reinava aqui uma dureza medieval, um perfume de nobreza cruel e cega. Dei comigo num refúgio ao abrigo do tempo. Um verdadeiro antro de ogres entrincheirados nos seus privilégios.
- Quem é você?
Voltei-me e descobri a magra silhueta da Nelly, os seus pequenos ombros e o seu rosto de cal enlanguescido pelo álcool. A mulher idosa reconheceu-me por seu turno e teve que encostar-se à parede, balbuciando:
- Louis... O que faz aqui?
- Vim falar-te de Pierre Sénicier.
A Nelly abeirou-se a cambalear. Notei que a sua peruca branca, ligeiramente azulada, estava de esguelha. De certo que a minha mãe adoptiva não dormira e já andava embriagada. Repetiu:
- Pierre... Pierre Sénicier?
- Sim - respondi numa voz neutra, - Julgo que chegou para mim a idade da razão. A idade da razão e da verdade, Nelly.
A velhota baixou os olhos. Vi as suas pálpebras bater lentamente e depois, contra toda a expectativa, os seus lábios esboçaram um sorriso. Murmurou: - A verdade... - e em seguida encaminhou-se num passo mais firme para uma mesinha de centro sobre a qual se viam numerosas garrafas. Encheu dois copos de âlcool e estendeu-me um.
- Não bebo, Nelly. Ainda por cima, é demasiado cedo. Ela insistiu: - Beba, Louis, e sente-se. Vai precisar disto. Obedeci sem discutir. Escolhi uma poltrona ao pé da lareira. Os meus arrepios recomeçaram. Bebi um trago de whisky. A queimadura do álcool fez-me bem. A Nelly veio sentar-se na minha frente, em contraluz. Pousou ao lado, no chão, a garrafa de whisky e esvaziou o copo de uma assentada. Encheu-o novamente. Recobrara as suas cores e a sua segurança. Falou então, tratando-me por tu:
- Há coisas que não se esquecem, Louis. Coisas que ficam gravadas nos nossos corações, como no mármore das campas. Ignoro onde tomaste conhecimento do nome de Pierre Sénicier. Ignoro o que descobriste exactamente. Ignoro como a migração das cegonhas pôde trazer-te aqui, para exumares o segredo melhor guardado do mundo. Mas não faz mal. Agora já nada tem importância. Chegou a hora da verdade, Louis, e talvez também a da libertação, para mim. Pierre Sénicier pertencia a uma família da alta burguesia parisiense. O pai dele, Paul Sénicier, era um magistrado célebre que dominara a sua época e atravessara várias repúblicas sem claudicar. Era um homem austero, silencioso e cruel, um homem temido e que via o mundo como uma construção frágil, à altura da sua mão poderosa. No início do século, em poucos anos a mulher deu-lhe três filhos, três rapazes de fim de raça”, de cérebro estéril. O pai danava-se, mas a fortuna permitiu-lhe salvar a face. Henri, o primeiro filho, corcunda e atrasado, ficou a guardar os ”castelos”: três solares escalavrados na Normandia. Dominique, o mais sólido fisicamente, alistou-se no exército e ganhou alguns galões, à força de influência. Quanto a Raphaêl, o benjamim, menos idiota e mais sonso, fez-se padre. Herdou uma diocese numa região perdida, não longe das terras de Henri, e depois apagou-se igualmente no esquecimento. Nessa época, Paul Sénicier já não se interessava pelos seus três filhos. Só tinha olhos para o seu quarto pimpolho, Pierre, nascido em
- Paul Sénicier tinha então cinquenta anos. A esposa, pouco mais nova, dera-lhe esta criança in extremis e depois falecera, como quem acaba de cumprir o seu último dever. Pierre foi uma bênção sob todos os aspectos. A criança parecia ter roubado todos os dons e trunfos desta família de degenerados.
O velho pai consagrou-se por inteiro à educação do filho. Ensinou-o pessoalmente a ler e a escrever. Seguiu com avidez o despertar da sua inteligência. Quando Pierre atingiu a idade da puberdade, Paul Sénicier esperava que o rapaz abraçasse a mesma carreira que ele, a magistratura, mas o filho desejava orientar-se para a Medicina. O pai aquiesceu. Pressentia que uma autêntica vocação abria caminho no seio da personalidade do adolescente. Não se enganava. Aos vinte e três anos, Sénicier erajá um cirurgião de alto nível, especializado no domínio cardíaco. Foi nessa época que conheci Pierre. Atraía todas as atenções no nosso pequeno meio de filhos de grandes famílias, ociosos e pretensiosos. Era alto, soberbo, austero. Todo o seu corpo ressoava um misterioso silêncio. Recordo-me: organizávamos ralhes, saraus amaneirados onde nos fechávamos como animais bravios, de certo modo anemados pela nossa própria solidão. As raparigas usavam os vestidos das mães, os rapazes vestiam velhos hings inteiriçados e bem engomados. Nestes serões, nós, as raparigas, só esperávamos um homem: Pierre Sénicíer. Ele já pertencia ao mundo dos adultos, das responsabilidades. Mas quando aparecia, a festa deixava de ser a mesma. Os lustres, os vestidos, os álcoois, tudo parecia rodopiar e cintilar para ele.
A Nelly deteve-se, enchendo de novo o seu copo.
- Eu é que apresentei Pierre Sénicier a Marie-Anne de Montalier. Marie-Anne era uma amiga muito íntima. Uma moça loura, magra, de cabelo revolto, que parecia sempre acabada de sair da cama. O mais impressionante era a sua palidez: uma brancura, uma transparência que não podia ser comparada a qualquer outra tonalidade. Marie-Anne pertencia a uma rica família de colonos franceses que se tinham instalado em África no século passado, em terras selvagens. Murmurava-se que, receando estragar-se com a raça negra, esta família praticara casamentos consanguíneos que explicavam a sua actual anemia. Marie-Anne apaixonou-se no preciso instante em que viu Pierre. Confusamente, lamentei logo tê-los apresentado. No entanto, o destino deles já estava selado. Não tardou que a paixão de Marie-Anne se volvesse em inquietude, numa angústia latente que a fechou ao mundo exterior. Encheu-se, ao longo dos dias, de uma luz sombria que a tornava ainda mais bela. Em janeiro de 1957, Pierre e Marie-Anne casaram-se. Durante a boda, ela ciciou-me: ”Estou perdida, Nelly. Sei-o perfeitamente, mas é a minha escolha”. Conheci Georges Braesler por esta altura. Era mais velho do que eu, escrevia poemas e guiões de filmes. Desejava viajar, enquanto diplomata, ”como Claudel ou Malraux”. Na época, eu era bastante bonita, despreocupada e doidivanas, dava-me cada vez menos com as minhas antigas relações e só mantinha contacto com Marie-Anne, que me escrevia regularmente. Foi assim que descobri a verdadeira natureza de Pierre Sénicier, seu esposo, de quem acabava de dar à luz um menino. Em 1958, Sénicier ocupava um lugar importante no serviço de cirurgia cardíaca de Pitié. Tinha vinte e cinco anos. Abria-se diante dele uma grande carreira, mas habitava-o um irreversível pendor para o Mal. Marie-Anne explicava-me isto nas suas cartas. Auscultara o passado do marido e descobrira apavorantes zonas de sombra. Quando era estudante, Sénicier fora surpreendido a efectuar uma vivissecção de gatinhos vivos. As testemunhas haviam julgado tratar-se de uma alucinação: as miadelas atrozes que ecoavam sob a abóbada da faculdade, os pequenos corpos contorcidos pelo sofrimento. Mais tarde, tinham suspeitado que ele praticara actos odiosos com crianças anormais, num serviço hospitalar de Villejuif, após a descoberta de feridas inexplicáveis nos seres débeis: queimaduras, entalhes. A ordem dos médicos ameaçou interditar-lhe o exercício da profissão, mas em 1960 sobreveio um acontecimento de monta. Pierre Sénicier conseguiu um enxerto único: o de um coração de chimpanzé no corpo de um homem. O paciente só sobreviveu algumas horas, mas a intervenção constituía um êxito no plano cirúrgico. Esqueceram-se as sinistras suspeitas. Sénicier converteu-se numa glória nacional, saudada pelo mundo científico. Aos vinte e sete anos, o cirurgião recebeu mesmo a Legião de Honra das mãos do general de Gaulle. Um ano depois, o velho Sénicier morria.
O testamento atribuía a maioria dos seus bens a Pierre, que utilizou este dinheiro para abrir uma clínica privada em Neuilly -sur-Seine. Em poucos meses, a Clínica Pasteur transformou-se num estabelecimento muito frequentado onde vinham tratar-se as mais ricas personalidades de toda a Europa. Pierre Sénicier estava no apogeu da glória. Manifestou-se então a sua vontade humanitária. Mandou construir um orfanato nosjardins da clínica, destinado a recolher jovens órfãos ou a encarregar-se da educação de crianças pobres, designadamente ciganos. A sua nova notoriedade permitiu-lhe arrecadar rapidamente fundos doados pelo Estado, empresas e grande público.
Ouvi tinidos - o frasco contra o copo - e depois o gorgolejo do líquido. Uns instantes de silêncio, e em seguida a Nelly deu um estalo com a língua. No meu espírito, a convergência dos acontecimentos tomava corpo, elevando-se como uma vaga de trevas.
- Foi então que tudo se desmoronou. As cartas de Marie-Anne mudaram de tom, abandonando a escrita amistosa para redigir cartas exangues, terríveis. - A Nelly casquinou: - Estava convencida de que a minha amiga perdera a razão. Custava-me a acreditar no que ela contava. Dizia que a instituição de Sénicier não passava de um lugar de barbárie insuportável. O marido instalara no subsolo um bloco operatório bem aferrolhado, onde praticava as piores intervenções em crianças: enxertos monstruosos, transplantes em vida, inúmeras torturas... Paralelamente, iam-se acumulando os autos de acusação das famílias ciganas. Deliberou-se uma busca à Clínica Pasteur. As relações e a influência de Sénicier salvaram-no, pela última vez. Prevenido a tempo da chegada da polícia, o cirurgião provocou um incêndio nas dependências do instituto. Só houve tempo de evacuar as crianças dos pisos superiores e os doentes da clínica. O pior foi evitado. Pelo menos oficialmente. De facto, ninguém saiu vivo do subsolo do laboratório clandestino. Sénicier trancara a sua câmara de horrores e queimara as crianças enxertadas. Um breve inquérito concluiu pela origem acidental do incêndio. As crianças sobreviventes foram restituídas às suas famílias ou transferidas para outros centros. Arquivou-se o processo encetado. Marie-Ane escreveu-me uma última vez, explicando-me - cúmulo de ironia que o marido estava ”curado” e que iam ambos para África a fim de ajudarem e tratarem as populações negras. Na mesma altura, o Georges foi nomeado para um cargo diplomático no Sudeste da Ásia. Convenceu-me a acompanhá-lo. Foi em Novembro de 1963, tinha eu trinta e dois anos.
De súbito acendeu-se uma luz no vestíbulo. Surgiu um velho que envergava um casaco de malha, Georges Braesler. Trazia nos braços uma ave pesada e maciça de plumagem pardacenta. As penas espalhavam-se pelo chão. O homem fez menção de entrar no compartimento, mas a Nelly travou-o: Vai-te embora, Georges.
Ele não manifestou a mínima surpresa perante tal veemência. Tão-pouco se espantou com a minha presença. A Nelly berrou:
- Vai-te embora!
O velho virou costas e desapareceu. A Nelly bebeu mais um pouco e arrotou. Propagou-se na sala um intenso cheiro a whisky. A luz do dia coava-se ligeiramente no compartimento. Eu discernia agora o rosto devastado da Nelly.
- Em 1964, após um ano passado na Tailândia, o Georges voltou a ser transferido. Malraux, seu amigo pessoal, ocupava na época o cargo de ministro da Cultura. Conhecia bem a África e enviou-nos para a República Centro-Africana. Disse-nos então: ”É um país incrível. Fantástico”. O autor de La Voie Royale não poderia dizer melhor, mas ignorava um pormenor relevante: era ali que viviam agora Pierre e Marie-Anne Sénicier com os seus filhos. O nosso reencontro foi um tanto estranho. Os laços de amizade reataram-se. O primeiro jantar correu na perfeição. Pierre envelhecera, mas parecia calmo, descontraído. Readquirira as suas maneiras doces e distantes. Evocou o destino das crianças africanas, tolhidas de doenças que se devia tratar a todo o custo. Parecia a mil léguas dos pesadelos de outrora e eu ainda duvidava das revelações de Marie-Anne. No entanto, gradualmente, compreendi que a loucura de Sénicier estava de facto presente. Pierre enfurecia-se por viver em África. Não suportava ter sido obrigado a pôr fim à sua carreira. Ele, que se saíra tão bem de experiências inéditas e únicas, via-se agora reduzido a providenciar uma medicina grosseira, em blocos operatórios que funcionavam a gasolina e em corredores que cheiravam a mandioca - Sénicier não podia tolerá-lo. A sua cólera transformou-se numa surda vingança virada contra si mesmo e a sua família. Assim, Sénicier considerava os dois filhos como objectos de estudo. Traçara bíótipos de ambos, extremamente precisos, e analisara os seus grupos sanguíneos, os tipos teciduais, sondara-lhes as impressões digitais... Servia-se deles para experiências atrozes, puramente psicológicas. Por ocasião de certos jantares, assisti a cenas traumatizantes de que nunca mais me esquecerei. Quando a comida chegava à mesa, Sénicier debruçava-se sobre os dois rapazes e murmurava-lhes: ”Olhem para os vossos pratos, meus filhos. O que julgam estar a comer?”. Umas carnes acastanhadas banhavam no molho. Sénicier começava a espicaçá-las com a ponta do seu garfo. Repetia a pergunta: ”Que animal julgam estar a comer esta noite? A pequena gazela? O porquinho? O macaco?”. E continuava a esgravatar os pedaços viscosos que luziam sob a luz mortiça da electricidade, até rolarem lágrimas nas faces dos garotos apavorados. Sénicier continuava: ”A menos que seja outra coisa. Nunca se sabe o que os negros comem aqui. Talvez esta noite ...” As crianças fugiam, cheias de pânico. Marie-Anne permanecia de mármore. Sénicier galhofava. Queria persuadir os filhos de que eram canibais - de que comiam carne humana todas as noites. As crianças cresciam no meio da dor. O mais velho soçobrou numa verdadeira neurose. Em 1965, aos oito anos, a sua consciência percebia a inteira monstruosidade do pai. Tornou-se rígido, silencioso, insensível, mas, paradoxalmente, era o preferido. Pierre Sénicierjá não cuidava senão desta criança, adorava-a com todas as suas forças, com toda a sua crueldade. Uma lógica tão demente significava que o rapazinho devia aguentar mais, cada vez mais - até ao traumatismo total. O que procurava Sénicier? Nunca vim a saber. Mas o filho ficou afásico, incapaz de qualquer conduta coerente. Nesse ano, poucos dias depois do Natal, passou aos actos. A criança suicidou-se, como as pessoas se suicidam em África, ingurgitando uma porção de nivaquina, a qual, consumida em fortes doses, tem consequências irreversíveis sobre o corpo humano - em especial sobre o coração. Uma única coisa podia agora salvar-lhe a vida: um novo coração. Compreendes a secreta lógica do destino de Pierre Sénicier? Depois de ter impelido o seu próprio filho a matar-se, era ele, o cirurgião virtuoso, o único a poder salvá-lo. Sénicier decidiu tentar imediatamente um transplante cardíaco, tal como fizera cinco anos antes num idoso de sessenta e oito anos. Em Bangui, lograra instalar na sua propriedade um bloco operatório relativamente assepsiado, mas faltava-lhe a peça essencial: um coração compatível, em perfeito estado de funcionamento. Não precisou de procurar muito longe: os seus dois filhos beneficiavam de uma compatibilidade tecidual quase absoluta. Na sua loucura, o médico decidiu sacrificar o mais novo para salvar o primogénito. Era a véspera do dia de Ano Novo, mais precisamente, a noite de São Silvestre de 1965. Sénicier pôs tudo em ordem e preparou a sala de operações. Em Bangui, a efervescência recrudescia. Dançava-se e bebia-se nos quatro cantos da cidade. O Georges e eu tínhamos organizado uma festa na embaixada de França, convidando todos os europeus. Enquanto o cirurgião se aprestava a praticar a intervenção, a História trocava-lhe as voltas. Nessa noite, jean-Bedel Bokassa efectuou o seu golpe de estado e investiu contra a cidade com as suas tropas armadas. Eclodiram confrontos. Houve pilhagens, incêndios, mortes. Para celebrar a vitória, Bokassa libertou os detidos da prisão de Bangui. O São Silvestre descambou em pesadelo. No caos geral, adveio um acontecimento particular. Entre os prisioneiros libertados encontravam-se os pais de novas vítimas de Sénicier, o qual recomeçara as suas cruéis experiências há algum tempo. O médico mandara aprisionar estas famílias sob diversos pretextos com receio das represálias. Ora, os pais libertados foram directamente à morada de Sénicier a fim de exercerem a sua vingança. À meia-noite, Sénicier acertava os últimos pormenores da operação. As duas crianças estavam sob anestesia. Os electrocardiogramas funcionavam. Os fluxos sanguíneos e as temperaturas estavam sob vigilância, os cateteres prontos a serem introduzidos. Foi então que surgiram os prisioneiros. Quebraram as barreiras e penetraram na propriedade. Começaram por matar Mohamed, o intendente, e em seguida abateram Azzora, a sua mulher, e os filhos com a espingarda de Mohamed. Sénicier ouviu os gritos, os estampidos. Voltou para casa e apoderou-se da Mauser com que ia à caça. Os assaltantes, mesmo numerosos, foram presa fácil para Sénicier. Abateu-os um a um. Mas o mais importante passava-se noutro lado. Aproveitando-se da desordem, Marie-Anne, que vira o filho mais novo ser levado pelo pai, penetrou no bloco operatório. Arrancou os tubos e os cabos e envolveu o miúdo num lençol cirúrgico. Fugiu assim pela cidade a ferro e fogo. Dirigiu-se para a embaixada de França, onde o pânico atingia o auge. Todos os brancos estavam escondidos lá dentro, não entendendo nada do que se passava. Balas perdidas haviam ferido vários de nós e os jardins ardiam. Foi então que avistei Marie-Anne através das janelas da embaixada. Surgiu literalmente das chamas, num vestido de listras azuis maculado de terra vermelha. Segurava nos braços um corpinho embrulhado. Corri lá para fora, pensando que a criança tinha sido ferida pelos soldados. Estava completamente ébria e a silhueta de Marie-Anne dançava diante dos meus olhos. Ela gritou: ”Ele quer matá-lo, Nelly! Quer o seu coração, percebes?”. Em poucos segundos, contou-me tudo: a tentativa de suicídio do mais velho, a necessidade de um transplante cardíaco, o projecto do marido. Marie-Anne ofegava, estreitando o pequeno corpo adormecido. ”É o único capaz de salvar o irmão. Tem que desaparecer. Totalmente”. Dizendo isto, pegou nas duas mãos da criança inanimada e meteu-as numa moita em chamas. Repetiu, mirando as palminhas abrasadas: ”É preciso apagar as impressões digitais, o nome, tudo! Toma o avião, Nelly. Desaparece com esta criança. Tem de deixar de existir. Para sempre. Aos olhos de toda a gente”. E deixou a bola de nervos e de sofrimento ali a meus pés, na terra vermelha. Nunca mais hei-de esquecer a silhueta dela, Louis, quando abalou de novo aos tropeções. Sabia que nunca mais a veria.
A Nelly calou-se. Ergui as minhas mãos queimadas diante do meu rosto marejado de lágrimas, e balbuciei:
- Oh, meu Deus, não...
- Sim, Louis. Essa criança eras tu. Pierre Sénicier é o teu pai. O caos infernal da noite de São Silvestre de 1965 foi o teu segundo nascimento, que, por sorte, não te deixou qualquer recordação. Nessa mesma noite, anunciaram que os Sénicier tinham perecido no incêndio da sua vivenda. Não era verdade: a família pusera-se em fuga, não sei para onde. Marie-Anne fez crer ao marido que tu morreras no incêndio. Pierre conseguiu manter o outro filho vivo e praticar um transplante cardíaco, sem dúvida num hospital do Congo. A criança rejeitou o órgão pouco tempo depois, mas o cirurgião lograra o primeiro transplante cardíaco, sobre a sua própria progenitura. Seguiram-se outras intervenções. Desde então, Sénicier rouba corações e enxerta-os no filho, que sobrevive e agoniza há quase trinta anos. Sénicier continua a procurar, Louis. Persegue os corações através do planeta, em busca do teu coração, o órgão absolutamente compatível com o corpo de Frédéric.
Arrepanhei a cara com os dedos. As lágrimas sufocavam-me: - Não, não, não...
Nelly volveu numa voz surda:
- Nessa noite, segui as ordens de Marie-Anne. O Georges e eu fretámos um avião e fugimos. Cuidei de ti ao regressar a Paris. Inventei-te uma nova identidade. - Deu uma gargalhada: - íamos ser colocados na Turquia, em Antakya. Achei divertido, sinistramente divertido, devo acrescentar, chamar-te Antioche, o antigo nome desta cidade onde íamos residir. Não tive a mínima dificuldade em mandar imprimir novos documentos de identidade. O Georges beneficiava de fortes influências no seio do governo. Tornaste-te ”Louis Antioche”.Já não tinhas impressões digitais. No teu bilhete de identidade, as marcas de tinta são as de um rapazinho afogado cujas mãos o Georges utilizou na morgue de Paris, numa fria noite de Fevereiro. Reescrevemos a tua história, Louis. Eras filho de uma família de médicos caritativos que haviam desaparecido num incêndio em África. Só tu sobreviveras. Eis como te ”gerámos” a partir do nada. Em seguida fui procurar a ama que me criara. Pagámos-lhe para se encarregar da tua educação. Ela própria ignorou sempre a verdade. Quanto a nós, desaparecemos. Era demasiado perigoso. Não imaginas a inteligência, a tenacidade e a duplicidade do teu pai. Longe de nós, longe do passado... Louis Antioche nada tinha a recear. Eu devia simplesmente proceder como uma madrinha distante, facilitar-te a existência sempre que pudesse. Desde esse dia, só cometi um erro: apresentar-te a Max Bõhm. Em boa verdade, o suíço conhecía a tua história, que eu lhe contara num dia em que o desespero era maior. Tinha-o na conta de um amigo, de um velho ”africano”, como o Georges e eu. Hoje compreendo que Max também conhecia Sénicier e, por uma razão que me escapa, confiou-te esse inquérito com o único objectivo de se vingar do teu próprio pai.
Urrei, por entre as lágrimas:
- Mas hoje, quem é Sénicier? Quem é ele, com mil diabos! Fala, Nelly. Suplico-te: sob que nome se esconde?
Nelly esvaziou o copo de um trago.
- É Pierre Doisneau, o fundador do Mundo único.
4 de Outubro de 1991, 22:10, hora local.
Que o meu destino se selasse em Calcutá, era uma coisa lógica, perfeita, irreversível. Só o inferno putrefacto da cidade indiana oferecia um contexto sobejamente negro para acolher as derradeiras violências da minha aventura.
Ao sair do avião da Air Índia, jorraram perfumes húmidos e enjoativos, como se fossem os últimos estertores da monção. Uma vez mais, os trópicos abriam-me as suas portas ardentes.
Segui o cortejo dos outros passageiros, senhoras gordas de sari rutilante e homenzinhos secos de fato escuro. Em Daca, última escala, abandonei definitivamente o mundo dos turistas que embarcavam para Katmandu e juntei-me aos passageiros bengalis. Estava de novo sozinho, entre os indianos que regressavam ao país, entre os missionários e as enfermeiras devotados às causas perdidas - a minha fauna familiar.
Penetrámos nas instalações do aeroporto cujos tectos se constelavam de ventiladores que giravam com lentidão. Era tudo cinzento, tudo insípido. Num recanto da sala, um operário macilento escavava as camadas profundas do solo a golpes de picareta. A seu lado, umas crianças escondiam o rosto e exibiam um peito escanzelado. Calcutá, a cidade-morredouro, acolhia-me sem floreados.
Três dias antes, ao sair da residência dos Braeslerjá vencidas as lágrimas e as turbações, metera-me no carro, atravessara os campos e regressara à capital. No mesmo dia, fora ao consulado indiano a fim de efectuar um pedido de visto para Bengala, a leste da índia. ”Turista?”, interrogara-me uma mulher pequenina com um ar desconfiado. Dissera que sim, meneando a cabeça. ”E vai para Calcutá?”. Eu confirmara outra vez, sem uma palavra. A mulher pegara no meu passaporte e declarara: «Volte amanhã, à mesma hora».
No meu escritório, durante esse dia, nenhum pensamento ou reflexão viera ferretear a minha consciência. Esperara simplesmente que as horas passassem, sentado no Parquet, contemplando o meu magro saco de viagem e a minha arma bem carregada. Na manhã seguinte, às oito e trinta, recuperara o passaporte, carimbado com o visto indiano, e seguira directamente para Roissy. Estava inscrito em todas as listas de espera dos voos que podiam de algum modo aproximar-me do meu destino. Às quinze horas embarcara para Istambul e em seguida para a ilha de Bahrein, no golfo Pérsico. Alcançara logo depois Daca, no Bangladese, a minha última escala. Após trinta e quatro horas de voos e esperas intermináveis, chegara finalmente a Calcutá, a capital comunista de Bengala.
Apanhei um táxi, um Ambassador, um carro padrão em Bengala, saído dos anos cinquenta. Dei a morada de um hotel que me tinham aconselhado no aeroporto: o Park Hotel, em Sudder Street, situado no bairro europeu. Após dez minutos de caminho por entre campos cheios de ervas, o surdo calor abríu-se brutalmente sobre a urbe bengali.
Mesmo a essa hora tardia, Calcutá pululava. Recortavam-se milhares de silhuetas na poeira nocturna: homens de camiseta, rosto afogado em sombra, mulheres de sari multicolor, cujo ventre nu se perdia na obscuridade. Não distingui qualquer rosto, tão-somente as pintas de cor na testa das mulheres ou o olhar preto e branco de alguns transeuntes. Também não reparava nas frontarias ou na arquitectura das casas - avançava num túnel de sombra cujas paredes pareciam unicamente formadas de cabeças escuras, braços e pernas famélicos.
A turba fervilhava por toda a parte. Os carros entrechocavam-se, as buzinas ressoavam, os eléctricos gradeados abriam passagem por entre a multidão. De vez em quando aparecia um desfile ruidoso. Seres esgazeados, cingidos de vermelho, amarelo e azul batiam em instrumentos de percussão e entoavam melopeias entontecedoras entre fumos acres de incenso. Um morto. Uma festa. Depois a turba voltava a fechar-se. Aglutinavam-se leprosos que roçavam pelo automóvel e davam pancadas no vidro. No caos da noite retinindo de sinetas, também se descobria a curiosidade principal de Calcutá: os 7ickshawallas, esses homens-animais que puxam os riquexós através da cidade, galopando nas suas pernas franzinas e caminhando sobre o asfalto esventrado e respirando os gases a plenos pulmões.
Mas os homens nada eram comparados com os cheiros: eflúvios insuportáveis que vagueavam no ar como criaturas violentas, enraivecidas, cruéis. Vomitado, mofo, incenso, especiarias... A noite assemelhava-se a um monstruoso fruto podre.
O táxi penetrou em Sudder Street.
No Park Hotel, dei um nome falso e troquei duzentos dólares em rupias. O meu quarto situava-se no primeiro andar, ao fim de uma escada a céu aberto. Era pequeno, sujo e fétido. Abri ajanela, que dava para as cozinhas. Intolerável. Fechei-a logo e aferrolhei a porta. A minha garganta e paredes nasais estavam cheias de uma substância negrusca, os vincos da minha camisa cobriam-se desta mesma imundície asquerosa, a poluição. Meia hora de Calcutá bastara para me envenenar por dentro.
Tomei um duche, cuja água me pareceu tão suja quanto o resto, e mudei de roupa. Em seguida, reuni as diferentes peças da Glock. Devagar, em poucos gestos seguros, recompus a arma. Meti dezasseis balas no carregador e depois introduzi-o no interior da coronha. Prendi o coldre ao cinto e vesti por cima o meu casaco de linho. Vi-me ao espelho. Um perfeito secretário de embaixada ou um encarregado de missão do Banco Mundial. Rodei a chave na fechadura e saí.
Enveredei pela primeira ruela que se me deparou, um corredor superpovoado sem calçada nem passeio, só asfalto danificado em cujas bordas uns mendigos acocorados me lançavam olhares suplicantes. Indianos, nepaleses e chineses abordavam-me com propostas de trocarem os meus dólares. Míseras lojas, cujas montras não eram mais do que buracos no meio do cascalho, abriam-se para profundezas nauseabundas. Chá bolachas, caril... Rolos de fumo obstruíam as trevas. Descobri Finalmente uma larga praça na qual se erguia o edifício de um mercado coberto.
Cintilavam inúmeras braseiras. Em volta flutuavam rostos sulcados por reflexos dourados. Ao longo da praça dormiam centenas de homens, os corpos grudados sob cobertores, prostrados num sono de pez. O asfalto estava húmido e reluzia aqui e além como uma febre furta-cor. Apesar do horror de tal miséria, apesar do fedor inominável, esta visão era flamejante. Surpreendia aqui a textura particular da noite tropical: esse negro, esse azul, esse cinzento, impregnados de ouro e fogo, embaciados pelos fumos e perfumes, e que revelam como que a trama secreta da realidade.
Embrenhei-me ainda mais na noite.
Virei,, sem me ralar com a minha orientação. Palmilhava agora o mercado coberto, onde se abriam estreitas ruelas mal pavimentadas, juncadas de podridão e substâncias estragadas. De vez em quando entreabriam-se portas para salas imensas, onde homens-formigas transportavam e puxavam caixotes desmedidos, sob a iluminação descorada das lâmpadas eléctricas. No entanto, aqui a agitação amainava. Um ou outro bengali ouvia rádio, agachado em frente da sua locanda apagada. Barbeiros rapavam cabeças com uma mão lassa. Homensjogavam a um jogo estranho, uma espécie de pingue-pongue, Do que devia ser, de dia, um açougue - as paredes arvoravam longos rastros de sangue. E, por toda a parte, os ratos. Ratos enormes e pujantes que iam e vinham como cães, na maior das liberdades. Por vezes um indiano surpreendia um a seus pés a rilhar um legume murcho. Empurrava-o então com um pontapé, como se fosse um simples animal doméstico.
Nessa noite caminhei por longas horas, tentando acostumar-me à cidade e aos seus terrores. Quando encontrei o caminho do hotel eram já três da madrugada. Ao longo de Sudder Street, respirei uma vez mais o cheiro da miséria e expeli novamente um cuspo negro.
Esbocei um sorriso.
Sim, sem sombra de dúvida que Calcutá era um lugar ideal. Para matar ou para morrer.
Ao alvorecer, tomei outro duche e vesti-me. Saí do meu quarto às cinco e trinta e interroguei o bengali que dormitava
no átrio do hotel - um balcão de madeira pousado sobre um estrado, junto a uns minguados jardins. O indiano só conhecia um centro do Mundo único, perto da ponte de Howrah. Eu não podia deixar de reparar nele: havia sempre uma comprida fila de espera neste edifício. ”Só maltrapilhos e incuráveis”, esclareceu o homem com um ar repugnado. Agradeci-lhe, pensando que o desprezo era um luxo a que ninguém se podia dar em Calcutá.
O dia ainda hesitava em nascer. Sucider Street era cinzenta, constituída por hotéis decrépitos e snacks ensebados, onde se ofereciam a trouxe-mouxe ”pequenos-almoços ingleses” e ”frangos tandooii”. Alguns rickshawallas cochilavam sobre os seus engenhos, agarrados à sineta-buzina. Um homem seminu, cujo olhar exibia uma vista vazada, propôs-me um chai - chá perfumado com gengibre, servido numa chávena de grés. Bebi dois, quentes e demasiado fortes, e de seguida pus-me a caminho, procurando um táxi,
Ao cabo de quinhentos metros, irromperam de ambos os lados da rua uns velhos palácios vitorianos, gretados e sem cor. Ali defronte, centenas de corpos atapetavam os passeios, anichados sob panos imundos. Alguns leprosos, sem dedos nem rosto, divisaram-me e vieram logo ao meu encontro. Acelerei o passo. Alcancei finalmentejawaharlal Nehru Road, vasta avenida orlada de museus em ruínas. A todo o comprimento viam-se mendigos a fazer habilidades. Havia um em posição de lótus diante de um buraco escavado no asfalto, e enfiava lá a cabeça, enterrando-a totalmente com areia e depois alçando o corpo às avessas, com osjoelhos dirigidos para o céu. Se apreciássemos a proeza, podíamos dar umas rupias.
Chamei um táxi e mandei seguir para a ponte de Howrah, mesmo a norte. O sol erguia-se sobre a cidade. Os carris dos eléctricos luziam entre o empedrado cheio de ervas. O tráfego ainda não era denso, só alguns homens que puxavam umas enormes carriolas e corriam em silêncio ao longo da calçada. À beira dos passeios, uns figurões de tez escura lavavam-se nas valetas. Expeliam mucosidades, raspavam a língua por meio de um fio de aço e aspergiam-se em águas de despejo. Mais longe, crianças exploravam com aplicação montões de lixo semiqueimado, cujas cinzas se desfolhavam ao vento. Mulheres idosas defecavam debaixo de arbustos e cachos humanos começavam a encher as ruas, desembocando das casas, dos comboios, dos eléctricos. À medida que o calor aumentava, Calcutá ia engendrando homens. Ao sabor das ruas e avenidas, descobri igualmente os inevitáveis templos, as vacas ossudas e os saddhus, cuja fronte ostenta uma lágrima de cor. A índia: o horror e o absoluto reunidos num beijo de sombra.
O táxi chegou a Armenian Ghat, à beira do rio. O centro do Mundo único erguia-se à sombra de uma ponte rodoviária. Plantado ao longo do passeio, entre os vendedores ambulantes, era constituído por um alpendre de lona sustentado por pilares metálicos. Lá debaixo, uns europeus de tez clara abriam caixas de cartão com medicamentos, instalavam cisternas de água potável e repartiam pacotes de comida. O centro estendia-se assim por trinta metros - trinta metros de víveres, cuidados e boa vontade. Em seguida, era a infinita fila de espera dos doentes, dos mancos e outros famélicos.
Sentei-me discretamente atrás da locanda de um limpador de ouvidos e aguardei, observando a obra destes apóstolos de um mundo melhor. Vi também desfilar os bengali a caminho do seu trabalho ou do seu destino de miséria. Talvez fossem sacrificar uma cabra a Kali antes de iniciarem o dia, ou tomar banho nas águas gordurentas do rio. O calor e os cheiros causavam-me enxaquecas.
Ele apareceu por fim, às nove horas.
Vinha sozinho, com uma sacola de cabedal já gasto na mão. Reuni todas as minhas forças para me levantar e estudá-lo em pormenor. Pierre Doisneau/Sénicier era um homem alto e magro. Usava calças de pano claro e uma camisa de manga curta. O seu rosto era afilado como um silex. A testa subia bastante por entre o cabelo grisalho encaracolado, e na boca bailava-lhe um sorriso duro, mantido por umas maxilas agressivas e tensas sob a pele. Pierre Doisneau. Pierre Sénicier. O ladrão de corações.
Instintivamente, apertei a coronha da Glock. Não fizera planos rigorosos, queria apenas analisar os acontecimentos. O pátio dos milagres continuava a engrossar. As bonitas louras de calções fluorescentes que ajudavam as enfermeiras indianas iam passando as compressas e os medicamentos com ar de anjos aplicados. Os leprosos e as mães achacadiças desfilavam, recebendo a sua ração de pílulas ou de comida e meneando a cabeça em sinal de gratidão.
Eram onze e quinze e Pierre Doisneau/Sénicier aprestava-se para desandar.
Fechou a maleta, distribuiu uns sorrisos e desapareceu na multidão. Segui-o a boa distância. Não havia a mínima possibilidade de ele me descortinar naquele magma de seres vivos. Em contrapartida, eu podia enxergar a sua alta silhueta cinquenta metros à minha frente. Caminhámos assim durante vinte minutos. O ”doutor” não parecia temer qualquer represália. O que havia ele de recear? Em Calcutá, era um verdadeiro santo, um homem adulado por toda a gente. E a multidão que o rodeava constituía a melhor das protecções.
Sénicier abrandou. Alcançáramos um bairro de melhor aparência. As ruas eram mais desafogadas, os passeios menos sujos. Depois de um cruzamento, reconheci um centro do MU. Também moderei a marcha e mantive uma distância de cerca de duzentos metros.
Àquela hora o calor era aflitivo. O suor escorria-me pela cara. Abriguei-me à sombra, ao pé de uma família que parecia viver desde sempre ali no passeio. Sentei-mejunto deles e pedi um chá - do género: turista que gosta de mergulhar na miséria.
Passou outra hora. Eu sondava os factos e os gestos de Sénicier entregue às suas actividades de beneficência. Faltava-me o ar quando atentava no espectáculo deste homem cujos crimes conhecia bem, armado aqui em bom samaritano. Sentia a sua natureza ambivalente no mais fundo de mim. Percebi que em todos os instantes da sua vida, quer mergulhasse as mãos em vísceras ou tratasse uma mulher leprosa, ele era igualmente sincero. Sujeito à mesma loucura dos corpos, da doença, da carne.
Desta vez mudei de táctica. Esperei que Sénicier se afastasse para tentar aproximar-me e travar conhecimento com algumas das europeias que exerciam ali a função de enfermeiras. Ao cabo de meia hora, soube que a família Doisneau vivia num imenso palácio, o Marble Palace, cedido por um rico brâmane.
O médico contava abrir lá dentro um díspensário.
Saí então dali a toda a pressa. Acudira-me uma ideia ao espírito: esperar Sénicier no Marble Palace e abatê-lo no seu próprio terreno. No seu bloco operatório. Apanhei um táxi e abalei para Saluman Bazar. Após meia hora de multidão, de ruas estreitas, de buzinadas, o táxi engolfou-se num verdadeiro suk. O carro só passava roçando pelas quitandas ou pelo sari das mulheres. As injúrias choviam e o sol dardejava raios díspares através da turba. O bairro parecia estreitar-se e aprofundar-se como uma galeria de formigueiro. Depois, de repente, surgiu um imenso parque onde uma vasta morada de colunas brancas se erguia no meio de um bosquezinho de palmeiras.
- Marble Palace? - gritei ao motorista.
O homem voltou-se e disse que sim, sorrindo-me com todos os seus dentes de aço.
Paguei e saltei para fora. Os meus olhos recusavam-se a acreditar no que viam. Por detrás do alto gradeamento passeavam paVões e gazelas. A entrada do parque nem sequer estava fechada. Não havia guarda nem sentinela que me detivessem. Atravessei o relvado, subi os degraus e penetrei no palácio dos Mil Mármores.
Dei comigo num grande compartimento claro e cinzento. Era tudo de mármore, um mármore que variava as cores e os relevos; desdobravam-se nervuras rosadas, filamentos azulados, blocos escuros e compactos, oferecendo uma mescla de severidade e beleza gelada. Acima de tudo, a sala estava cheia de centenas de estátuas brancas e elegantes - esculturas de homens e de mulheres, no estilo renascentista, como que acabadas de sair de um palácio florentino.
Atravessei a floresta de bustos. Os seus olhares calmos e fantasmais davam a impressão de me seguir. Do outro lado abriam-se portas para um pátio coroado por um balcão de pedra. Avancei pelo lajedo. Elevavam-se altas fachadas onde se rasgavam janelas finamente cinzeladas. Marble Palace formava uma gigantesca cintura, rodeando aquele ilhéu de frescura e serenidade. O pátio era o seu coração, a sua autêntica razão de ser. As janelas, as balaustradas de pedra e as cinzelagens das colunas não tinham nada a ver com a tradição indiana nem sequer com a arquitectura vitoriana. Uma vez mais, afigurava-se-me caminhar numa moradia do Renascimento italiano.
Plantas tropicais compunham um jardim escavado alguns degraus adentro das lajes de mármore. Oscilavam repuxos ao sabor da brisa. Evolava-se deste lugar irreal uma atmosfera umbrífera, uma tranquilidade solitária, algo como o sonho dulcíssimo de um harém desertado. Aqui e acolá erguiam-se mais estátuas, lançando as suas curvas e os seus corpos ao encontro dos raros raios de sol que ali penetravam. Estaríamos mesmo em Calcutá, no centro do caos indescritível? Ecoavam leves grasnidos de aves. Insinuei-me na passagem abrigada que ladeava o pátio. Discerni logo, suspensas ao longo das paredes, umas grandes gaiolas de madeira onde evoluíam aves brancas.
- São gralhas, gralhas brancas. São únicas. Crio-as aqui há já vários anos.
Voltei-me: Marie-Ane Sénicier postava-se na minha frente, tal como sempre a imaginara, com o cabelo branco atado num alto carrapito por cima do seu rosto sem cor. Apenas sobressaía a sua boca purpurina, semelhante a um fruto sanguíneo e cruel. Os meus olhos velaram-se, as pernas vergaram. Quis falar, mas tombei sobre um degrau e lancei fora tudo o que tinha nas tripas. Tossi e vomitei ainda um corrimento de bílis por longos instantes. Murmurei por fim, através da minha garganta dolorida:
- Des... desculpe... eu... Marie-Ane atalhou a minha agonia:
- Sei quem tu és, Louis. A Nelly telefonou-me. O nosso reencontro é um tanto esquisito. - E acrescentou, numa voz mais suave: - Louis, meu pequenino...
Limpei a boca - jorrara sangue - e levantei os olhos. A minha mãe verdadeira. A emoção esmagava-me, não era capaz de falar. Foi ela que prosseguiu, na sua voz ausente:
- O teu irmão dorme ali, ao fundo do jardim. Queres vê-lo? Temos chá.
Movi a cabeça em sinal de assentimento. Ela quis ajudar-me. Repeli as suas mãos e ergui-me sozinho, abrindo o colarinho da camisa. Encaminhei-me para o centro do pátio e arredei as plantas. Lá atrás havia sofás, coxins e uma bandeja de prata onde fumegava uma chaleira acobreada. Num dos sofás dormia um homem vestido com uma túnica indiana. Era completamente calvo e tinha um rosto de uma brancura de gesso onde alguns sulcos pareciam lavrados por um buril minúsculo. A sua postura era a de uma criança, mas este ser aparentava mais idade do que o mármore que o rodeava. O estranho parecia-se comigo. Oferecia este mesmo rosto de fim de raça, com a testa alta e os olhos cansados, encovados nas órbitas. Mas o seu corpo não tinha nada a ver com o meu porte.
A sua túnica deixava adivinhar uns membros esqueléticos, uma cintura estreita. À altura do tórax distinguía-se um enorme penso cujas fibras felpudas extravasavam da fímbria bordada. Frédéric Sénicier, meu irmão, o eterno transplantado.
- Está a dormir - ciciou Marie-Anne. - Queres que o acordemos? A última operação correu muito bem. Foi em Setembro.
O rosto da pequena Gomun irrompeu na minha memória. Uma guinada lancinante golpeou-me o ventre. Marie-Anne acrescentou, como se o mundo exterior já não existisse:
- Só ele pode mantê-lo vivo, compreendes? Perguntei em voz baixa: - Onde fica o bloco?
- Que bloco?
- A sala de operações.
Marie-Anne não respondeu. A poucos centímetros dela, eu sentia o seu hálito de mulher idosa.
- Lá em baixo, no subsolo da casa. Ninguém deve pôr os pés naquele sítio. Não estás a pensar...
- A que horas desce ele, à noite?
- Louis...
- A que horas?
- Cerca das onze horas.
Eu não parava de contemplar Frédéric, o menino-velho, cujo torso se soerguia a um ritmo irregular. Não conseguia tirar os olhos do penso que lhe entufava a camisa.
- Como é que se pode entrar no laboratório?
- És louco.
Recobrara a minha calma. Parecia-me sentir o sangue afluir às veias em longas vagas regulares. Virei-me e fitei a minha mãe.
- Há alguma maneira de penetrar nesse maldito bloco? A minha mãe baixou os olhos e sussurrou:
- Espera um pouco.
Atravessou o pátio e voltou uns minutos mais tarde com um molho de chaves fechado na mão. Abriu a argola e estendeu-me uma única chave, deitando-me um doce olhar perdido. Peguei na haste de ferro e disse simplesmente:
- Voltarei esta noite. Depois das onze horas.
MarbIe Palace, meia-noite. Ao descer os degraus, acolheram-me eflúvios pesados e profundos. Era o próprio odor da morte, o odor de uma essência, de um suco de trevas, tão forte que, sem eu querer, parecia nutrir os poros da minha pele. O sangue. Torrentes de sangue. Imaginei paisagens imundas. Um pano de fundo vermelho-escuro sobre o qual viajavam cristas rosadas, carmesins diluídos, crostas castanhas.
Chegado ao fundo da escada, dei com a porta da câmara frigorifica bloqueada por um ferrolho de aço. Utilizei a chave da minha mãe. Lá fora a noite era total. Mas a silhueta que se esgueirara pela escada não me enganara. O animal acabava de entrar no seu covil. A pesada porta girou. De Glock em punho, penetrei no laboratório do meu pai.
Uma frescura temperada envolveu-me o corpo. Apercebi-me sem demora do pesadelo atroz que me rodeava. Era como se caminhasse no interior das fotografias de Max Bõhm. Uma autêntica floresta de cadáveres estendia-se no seio de uma sala iluminada por néons brancos. Pendiam corpos de ganchos cujas pontas aceradas trespassavam as bochechas, as cartilagens faciais, as órbitas, até reluzirem.na ponta com um brilho maléfico. Todos os corpos eram crianças indianas. Balouçavam ligeiramente, chiando de mansinho contra o seu eixo e exibindo chagas dementes: caixas torácicas abertas, cortes listrando as carnes, bocas de sombra escavadas nas articulações, extremidades de ossos salientes... E, por toda a parte, sangue. Caudais ressequidos que pareciam untar e envernizar os torsos. Escorrências imóveis que desenhavam arabescos ao longo dos relevos cutâneos. Rabiscos de tinta que pintalgavam os rostos, os peitos, os sexos.
O frio e o terror eriçavam-me a pele. Tive a sensação de que a minha mão ia disparar mal-grado meu. Coloquei o indicador junto ao cano, em posição de combate, e forcei-me a avançar um pouco mais com os olhos bem abertos.
No centro do compartimento, em cima de um bloco de ladrilhos, viam-se cabeças aglutinadas. Rostos esguios e torcidos pelo tormento, petrificados sobre a sua última expressão. Por sob as órbitas estiravam-se longas olheiras arroxeadas em crescentes de sofrimento. Todas estas cabeças estavam cortadas rente à base do pescoço. Flanqueei a mesa de açougue. Lá no fim, descobri um montão de membros. Os bracinhos e as pernas delgadas, de pele escura, amalgamavam-se em desenhos de entrelaçados abomináveis. Recobria-os uma ténue camada de geada. O meu coração batia como um bicho enlouquecido. De súbito, sob aquele lúgubre matagal, discerni órgãos genitais. Sexos de rapazes, ceifados ao rés da púbis. Vulvas de meninas, acerejadas, dispostas como peixes de carne. Mordi os lábios para não gritar. Uma sensação quente inundou-me a garganta. Acabava de reabrir a minha cicatriz.
Escutei, com os sentidos despertos, e continuei a avançar. As peças desfilavam, variando os horrores. Havia elementos sanguinolentos protegidos dentro de pequenos sarcófagos. Pedaços de corpos balançavam lentamente numa vertigem de geada. Enxerguei scanners cintilantes, suspensos, exibindo monstruosidades incompreensíveis. Uma espécie de corações siameses, gerações espontâneas de fígados ou rins, grudados num único corpo, como que no fundo de um aquário. À medida que avançava, a temperatura baixava.
Lobriguei finalmente a última porta. Não estava fechada. Entreabri-a, sentindo o peito rebentar de tantos batimentos. Era o bloco operatório, absolutamente vazio. Ao centro, rodeada de prateleiras de vidro, pontificava uma mesa de operações sob uma lâmpada convexa que difundia uma claridade branca.
Igualmente vazia. Nessa noite, ninguém sofreria atrocidades. Estiquei o pescoço e arrisquei um olhar,
De repente, um roçagar de panos fez-me voltar a cabeça. Ao mesmo tempo, senti uma intensa queimadela na nuca. O Dr. Pierre Sénicier estava em cima de mim, a cravar-me uma seringa na carne. Recuei, rugindo, e arranquei a agulha. Demasiado tarde. Os meus sentidos já se obscureciam. Apontei a arma. O meu pai brandiu as mãos, dir-se-ia que assustado, mas avançou devagar e falou numa voz muito doce:
- Não vais disparar contra o teu próprio pai, pois não, Louis?
Aproximou-se lentamente e forçou-me a recuar. Tentei levantar a Glock, mas toda a força abandonara o meu punho. Esbarrei contra a mesa de operações e reabri bruscamente os olhos: adormecera durante um centésimo de segundo. A luz branca precipitava o meu esvaimento. O cirurgião insistiu:
-já não esperava este instante, meu filho. Vamos retomar as coisas onde as deixámos, tu e eu, há tanto tempo, e salvar o Frédéric. A tua mãe não pôde conter a emoção, Louis. Sabes como são as mulheres...
Nesse instante ouvi o ruído cavo da porta da câmara e passos apressados. Por entre as brumas de gelo surgiu a minha mãe, com as unhas em riste. O seu rosto estava inteiramente crivado de alfinetes e lâminas. Vacilei. Num derradeiro sobressalto, premi o gatilho da Glock na direcção do meu pai. O estalido do metal ressoou através dos gritos da minha mãe, que já só distava alguns centímetros. Compreendi que a arma se encravara. Em forma de clarão, tornei a ver a imagem de Sarah a ensinar-me o manejo das armas. Puxei a culatra e fiz a bala sair. Municiava outra vez quando ouvi um ”Não!” horripilante. Não era a voz da minha mãe, nem a do meu pai. Era a minha própria voz que urrava enquanto o monstro cortava a cabeça da esposa por meio de uma foice metálica e cintilante. O meu segundo ”Não!” estrangulou-se-me na garganta. Larguei a Glock e caí para trás, num retinido de vidros. Soaram detonações. O torso do meu pai explodiu em mil parcelas sangrentas.
Julguei ser vítima de uma alucinação. Ao tombar no chão, porém, vislumbrei a imagem invertida do Dr. Milan Djuric, o anão cigano, em pé nos degraus, com uma espingarda-metralhadora Uzi nas mãos. A arma ainda fumegava da rajada redentora que acabava de disparar.
Quando acordei,já o cheiro a sangue desaparecera. Estava deitado num canapé de verga, no pátio interior do Palácio.
A luz nacarina da manhãzinha rompia, e ouvi as gralhas a grasnar ao longe. Para além desta leve toada, o silêncio da casa era completo. Ainda não tinha a certeza de compreender o que acontecera, quando uma mão amiga me ofereceu chá. Milan Djuric. Vi-o em mangas de camisa, alagado em suor, de Uzi ao ombro, Veio sentar-se ao pé de mim e contou-me a sua história, sem preâmbulos, na voz grave que já lhe conhecia. Escutei-o, saboreando a bebida com gengibre. A voz dele fez-me bem. Servia de eco, simultaneamente altissonante e reconfortante, ao meu próprio destino.
Milan Djuric contava-se entre as vítimas do meu pai.
Nos anos sessenta, Djuric era uma criança cigana entre outras, vivendo nos baldios da cintura parisiense. Nómada, livre e feliz. Só tinha a desdita de ser órfão. Em 1963, enviaram-no para a Clínica Pasteur, em Neuilly. Teria cerca de dez anos. Pierre Sénicier injectou-lhe logo estafilococos no interior das rótulas, a fim de infectar os membros inferiores. A título de experiência, A operação desenrolou-se poucos dias antes do incêndio final - a ”purificação” do cirurgião que ia ser desmascarado. Ora, apesar da sua enfermidade, Djuric conseguiu escapar às chamas rastejando ao longo do relvado. Foi o único sobrevivente do laboratório experimental.
Durante algumas semanas, trataram-no com desvelo num hospital parisiense. Por fim, informaram-no de que estava fora
de perigo, mas que o seu crescimento físico já não prosseguiria por causa da infecção das cartilagens. Djuric tornara-se num ”anão acidental”. O rom compreendeu que era duas vezes diferente. Duas vezes marginal. Ao mesmo tempo cigano e disforme.
O rapazinho beneficiou então de uma bolsa do Estado. Concentrou-se nos estudos, leu com avidez, aperfeiçoou-se no francês, também aprendeu búlgaro, húngaro, albanês e, naturalmente, aprofundou o seu conhecimento do romani. Estudou a história do seu povo, descobriu a origem indiana dos roms e a longa viagem que os trouxera até à Europa. Djuric decidiu que seria médico, mas que exerceria nos sítios onde os ciganos existem aos milhões: os Balcãs. Tornou-se um aluno brilhante e assíduo. Aos vinte e quatro anos, concluía os estudos e fazia o internato com êxito. Aderia igualmente ao Partido Comunista, a fim de obter com mais facilidade a autorização para se instalar do outro lado do muro de Berlim, no meio dos seus. Nunca procurou voltar a ver o médico sádico que lhe causara tanto mal. Esforçou-se, ao invés, por apagar da memória a sua permanência na clínica. O seu corpo estava ali para se recordar em vez dele.
Durante quinze anos, Milan Djuric tratou os roms cheio de paciência e fervor, circulando através dos países de Leste a bordo do seu Trabant. Amargou repetidas vezes penas de prisão. Enfrentou todas as acusações, mas saiu-se sempre bem. Médico dos ciganos, cuidava dos seus, daqueles de quem nenhum outro clínico queria saber, a menos que fosse para lhes esterilizar as mulheres ou redigir as fichas antropométricas.
Veio depois esse dia de chuva em que lhe bati à porta. Sob muitos aspectos, eu era o visitante da desgraça. Primeiro, obrigava-o a mergulhar no caso Rajko. Em seguida, confusamente, fazia-o recordar, devido a uma parecença física, os terrores esquecidos. Na altura não soubera definir’donde lhe vinha esta impressão. Todavia, nas semanas seguintes, o meu rosto tornou a obsidiá-lo. Lembrou-se aos poucos. Pôs nomes e circunstâncias nas minhas feições. Compreendeu o que eu ainda ignorava: o laço de sangue que me unia a Pierre Sénicier.
Quando lhe telefonei ao regressar de África, Djuric interrogou-me. Não respondi. A sua convicção entranhou-se. Também adivinhou que eu estava a aproximar-me do objectivo final: o confronto com o ser diabólico. Tomou o avião com destino a Paris. Aqui, surpreendeu-me no momento em que eu voltava de casa dos Braesler, na manhã do dia 2 de Outubro. Seguiu-me até à embaixada indiana, arranjou maneira de conhecer o sítio para onde me dirigia e, por último, pediu igualmente um visto para Bengala.
No dia 5 de Outubro, de manhã, o médico ia de novo na minha peugada, perto do centro do Mundo único. Reconheceu Pierre Doisneau/Sénicier. Foi atrás de mim até ao Marble Palace. Sabia que chegara a hora do embate. Para mim. Para ele. Para o outro. À noite, porém, não conseguiu introduzir-se a tempo na moradia de mármore. Quando penetrou no palácio, já perdera a minha pista. Passou pelas colunas, pelas gaiolas das gralhas, subiu a escada do pátio, vasculhou cada compartimento e descobriu finalmente Marie-Anne Sénicier, prisioneira e ferida. O marido torturara-a a fim de conhecer as razões da sua emoção. Djuric soltou-a. A mulher não disse nada - os seus maxilares estavam tolhidos por múltiplos bicos ensanguentados - mas correu na direcção do bunker. Sabia que a armadilha se fechara sobre mim. Quando ela entrou no laboratório, Djuric ainda só descia os degraus de mármore. A sequência dos acontecimentos ficará para todo o sempre impressa nas placas sensíveis da minha alma: o ataque de Píerre Sénicier, a sua lâmina ofuscante a cortar o pescoço da minha mãe, e a minha arma impotente para aniquilar o monstro. No momento em que Djuric apareceu e disparou a rajada de Uzijulguei estar a sofrer uma alucinação. No entanto, antes de soçobrar nas trevas, soube que o meu anjo da guarda me salvara das garras do meu pai. Um anjo da altura de um rapazinho, mas cuja vingança transversal gravara nas lajes o epitáfio final de toda a aventura.
Eram seis da manhã. Contei, por meu turno, a minha história. Quando acabei a narrativa, Djuric não fez qualquer comentário. Levantou-se e explicou-me o seu plano para as próximas horas. Trabalhara toda a noite no encerramento definitivo do laboratório. Anestesiara as raras crianças vivas e injectara-lhes fortes doses de assépticos. Ajudara estas vítimas a fugir, esperando que tão disformes seres encontrassem o lugar adequado na capital dos malditos. Em seguida avistara Frédéric, o meu irmão, que sucumbira nos seus braços chamando pela mãe. Depois regressara ao bunker e agrupara os cadáveres na sala principal a fim de os queimar. Esperava por mim para acender a pira e dominar as chamas.
- E os Sénicier? - perguntei após um longo silêncio. Djuric respondeu num tom inalterado:
- Ou queimamos os seus corpos juntamente com os outros, ou os levamos a Kali Ghat, nas margens do rio. Lá, certos homens encarregam-se de incinerar os cadáveres segundo a tradição indiana.
- Porquê eles e não as crianças?
- São demasiadas, Louis.
- Queimemos Pierre Sénicier aqui. Levaremos a minha mãe e o meu irmão a Kali Ghat.
A partir deste instante, tudo se encheu de chamas e calor. Tudo explodia na fornalha, o cheiro a carne crestada subia-nos à cabeça enquanto íamos alimentando a atroz fogueira de corpos humanos. As minhas mãos queimadas permitiam-me ajeitar o braseiro o mais perto possível. O meu espírito já não era mais do que pura ausência sempre que repunha no lume os membros que de lá se desprendiam. O fumo denso evacuava-se pelos respiradouros abertos sobre o pátio. Sabíamos que estas exalações iam atrair os criados e acordar os habitantes do bairro. Viriam todos apagar o fogo e verificar os estragos. Obscuramente, pensei no incêndio da clínica a que o pequeno Milan escapara apesar das suas pernas atrofiadas. Pensei em Bangui, quando a minha mãe sacrificara as minhas mãos para me salvar a vida. Djuric e eu éramos ambos filhos do fogo.
E queimávamos ali o nosso último laço com estas origens infernais.
Logo a seguir, tirámos um breque da garagem e metemos atrás os corpos de Marie-Anne e Frédéric Sénicier. Pus-me ao volante e Djuric guiou-me através das ruelas de Calcutá. Em dez minutos atingimos Kali Ghat. O bairro era atravessado por uma rua estreita e interminável que ladeava pequenos afluentes do rio, de águas estagnadas e verdinhentas. Os bordéis sucediam-se a oficinas de esculturas religiosas. Tudo parecia dormir.
Eu conduzia maquinalmente, perscrutando o céu descolorido que se recortava por entre os telhados e os cabos eléctricos, De repente, Djuric mandou-me parar. ”É aqui”, disse ele, indicando-me uma fortaleza de pedra, à direita. A muralha era encimada por várias torres em forma de pão-de-açúcar, cinzeladas de ornamentos e esculturas. Estacionei o carro enquanto Djuric: transpunha a entrada. juntei-me logo a ele e penetrei num vasto pátio interior de erva rasa.
Ardiam feixes de lenha nos quatro cantos. Em volta, homens esqueléticos atiçavam o lume, mantendo as brasas numa incandescência compacta por meio de um comprido pau. As chamas lançavam reverberações lívidas e expeliam espessas nuvens de fumo negro. Reconheci o odor, o odor da carne calcinada, e entrevi uma mão a escorregar de um dos brasidos. Sem pestanejar, um homem apanhou o resto humano e tornou a colocá-lo entre as chamas. Exactamente como eu próprio fizera poucos minutos antes. Ergui o olhar. As torres de pedra perfilavam-se na aurora pardacenta. Dei-me conta de que não sabia nenhuma oração.
Djuric falava com um homem idoso ao fundo do pátio. Exprimia-se fluentemente em bengali. Entregou um volumoso maço de rupias ao ancião e voltou para junto de mim.
- Estão à espera de um brâmane - explicou-me. - Dentro de uma hora organizar-se-á uma cerimónia. Vão dispersar as cinzas no rio. Tudo se passará do mesmo modo que para os verdadeiros indianos, Louis. Não podemos fazer melhor.
Aquiesci, sem acrescentar nada. Contemplei dois bengalis que acabavam de atear um amplo molho de lenha sobre o qual repousava um corpo enroupado numa veste branca. Djuric seguiu o meu olhar e depois murmurou:
- Aqueles homens são roms, a casta mais baixa na hierarquia indiana. Só eles têm autorização para manipular os mortos. Há milhares de anos, eram cantores e malabaristas. São os antepassados dos roms. Os meus antepassados, Louis.
Transportámos a cabeça e o corpo de Marie-Anne Sénicier, bem como o cadáver de Frédéric, envolvidos num lençol. Ninguém podia suspeitar de que se tratava de ocidentais. Djuric dirigiu-se novamente ao ancião. Desta vez falou mais alto e ameaçou com o punho. Eu não entendia. Partimos logo a seguir. Antes de se meter no carro, o anão ainda berrou qualquer coisa ao velhote, o qual meneou a cabeça com ar assustado e rancoroso. já no caminho, Djuric explicou-me:
- Os roms costumam economizar madeira. Quando os corpos estão semiconsumidos, deixam-nos à mercê dos abutres do rio e revendem a lenha não utilizada. Não queria que o fizessem a Marie-Anne e a Frédéríc.
Eu não tirava os olhos da estrada adiante de mim. Corriam-me pelas faces lágrimas melancólicas. Mais tarde, quando tomámos o avião para Daca, ainda tinha na garganta o gosto da carne queimada.
Alguns dias depois, em Calcutá, um cortejo de várias dezenas de milhares de participantes celebrou o doutor francês Pierre Doisneau e a sua família, tragicamente desaparecidos no incêndio do laboratório. Na Europa, falou-se pouco deste desaparecimento. O Dr. Pierre era uma lenda, mas uma lenda longínqua e irreal. De resto, a sua obra perdura, para lá da sua morte. Mais do que nunca, a organização Mundo único desenvolve-se e multiplica as benevolências. A imprensa refere mesmo a possibilidade de Pierre Doisneau obter o prémio Nobel da Paz de 1992, a título póstumo.
Sob todos os pontos de vista, Simon Rickiel conduziu o caso dos diamantes com mão de mestre. No dia 24 de Outubro de 1991, a polícia da Cidade do Cabo desencantou NieIs van Dõtten, um velho efeminado e medroso, escondido nos arrabaldes residenciais da cidade. O africânder, sem dúvida tranquilizado pelos sucessivos desaparecimentos dos seus sócios e do chefe, confessou as suas culpas sem levantar a mínima dificuldade. Revelou as grandes linhas da rede, dando os nomes, os lugares, as datas. Graças a Simon Rickiel, eu próprio pude ler estas confissões e verificar que van Dõtten ocultara o papel de Pierre Sénicier, bem como a chantagem que ele exercia sobre os três traficantes.
Sarah Gabbor está actualmente presa em Israel. Encarceraram-na num campo onde as detidas trabalham a céu aberto, como nos kibbutzs. De certo modo, Sarah voltou à ”casa de partida. O seujulgamento ainda não se realizou, mas o processo, à luz das últimas revelações do inquérito, está a correr num sentido favorável.
Escrevi-lhe várias vezes, mas as minhas cartas ficaram sem resposta. Suponho que este silêncio é fruto do orgulho e da força de carácter que tanto me haviam fascinado em terra hebraica. Ninguém encontrou até agora os diamantes nem o dinheiro da bela kibbutznih.
Quanto ao enigma dos corações, nunca chegou a aparecer em qualquer documento oficial. Só Simon Rickiel, Milan Djuric e eu próprio conhecemos a verdade. E levaremos este segredo connosco para o túmulo.
Milan Djuric despediu-se de mim dizendo simplesmente:
- Não devemos tornar a ver-nos, Louis. A nossa amizade só contribuiria para reavivar as nossas cicatrizes. - Pegou-me na mão e apertou-a com todas as suas forças. Este aperto de mão de um homem tão valoroso desfazia para sempre o complexo da minha enfermidade.
Jean Christophe Grangé
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















