



Biblio VT




OP-CENTER. A mais secreta organização de inteligência americana. Uma força de espionagem e operações independente, que não deve satisfações a ninguém além do presidente. Mas nas duas ocasiões em que foi testada, não conseguiu os resultados esperados. Finalmente chegou o momento do teste decisivo. Um atentado terrorista em Seul, capital da Coreia do Sul, coloca os homens chefiados por Paul Hood diante de seu mais importante desafio: impedir uma iminente guerra nuclear no país dividido. A tarefa, que já parecia complicada, fica ainda mais difícil quando há pane nos sistemas de computadores do Centro de Operações. Restam apenas a força e a perspicácia de alguns homens muito especiais do OP-CENTER para manter a paz no Extremo Oriente.
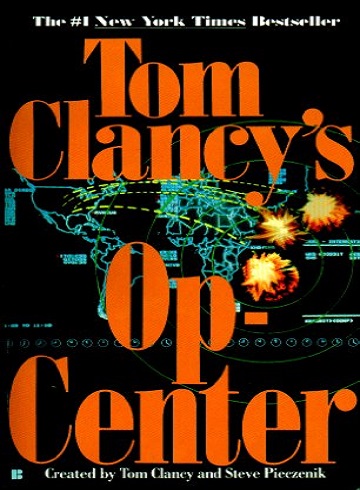
Um
Terça-feira, 16:10, Seul
Gregory Donald tomou um gole de uísque e olhou para o bar lotado.
– Kim, você de vez em quando se pega olhando para trás? Não digo hoje de manhã, ou semana passada, mas... para um passado bem distante?
Kim Hwan, vice-diretor da KCIA, a agência central de espionagem coreana, usava um canudo vermelho para brincar com a rodela de limão que boiava na sua Diet Coke.
– Para mim, Greg, esta manhã/á é um passado bem distante. Especialmente num dia como o de hoje. O que eu não daria para estar pescando com o meu tio Pak em Yangyang...
Donald riu.
– Ele continua tão bravo como antes?
– Pior. Lembra como ele costumava ter dois barcos de pesca? Pois bem, de um ele se livrou. Disse que não aguentava mais ter um parceiro. Mas, às vezes, eu bem que preferia enfrentar peixes e tempestades em vez de burocratas. Você se lembra como era. – Pelo canto do olho, Hwan viu os dois homens ao seu lado pagarem a conta e se retirarem.
Donald assentiu.
– Eu me lembro. Por isso é que eu saí.
Hwan se inclinou para perto e olhou em volta. Estreitou os olhos e suas feições bem definidas assumiram um ar conspiratório.
– Eu não queria dizer nada enquanto os editores do Seoul Press estivessem por aqui, mas você imagina que hoje eles impediram os meus helicópteros de voar?
Donald ergueu a sobrancelha, surpreso.
– Enlouqueceram?
– Pior que isso. Ficaram irresponsáveis. Esses macacos da imprensa disseram que os helicópteros voando em cima deles fariam tanto barulho que eles não iam conseguir se entender. Portanto, se alguma coisa acontecer, não temos cobertura aérea.
Donald terminou o uísque e pôs a mão no bolso externo do paletó de tweed.
– É irritante, Kim, mas é assim que as coisas estão em toda parte. Os marqueteiros pegaram o lugar do verdadeiro talento. É o que acontece na espionagem, no governo e até na Sociedade de Amizade. Ninguém mais se joga na piscina. Tudo tem que ser estudado e avaliado até esfriar totalmente a iniciativa.
Hwan balançou a cabeça devagar.
– Fiquei decepcionado quando você se mandou para o corpo de mergulhadores. Mas foi bem esperto. Não tente melhorar a agência. Eu mesmo passo a maior parte do tempo tentando apenas manter o status quo.
– E não há quem faça melhor.
Hwan sorriu:
– Porque eu amo a agência, certo?
Donald fez que sim. Tinha pegado o seu cachimbo Block, de espuma-do-mar, e um pacote de tabaco Balkan Sobraine.
– Diz uma coisa. Você está esperando alguma coisa para hoje?
– Recebemos avisos dos habituais grupos de radicais, revolucionários e malucos. Mas sabemos quem são e estamos de olho neles. São como esses desocupados que ligam para o Howard Stern depois de cada programa. A mesma ladainha, só que em dias diferentes. Mas quase tudo é da boca para fora.
A sobrancelha de Donald se arqueou de novo, enquanto ele socava uma pitada de fumo.
– E vocês costumam pegar o Howard Stern aqui?
Hwan terminou de beber a soda.
– Não. Mas ouvi umas fitas piratas ao desbaratar uma quadrilha semana passada. Você conhece a Coreia, Greg. Até a Oprah Winfrey o governo acha que é picante demais, a maior parte do tempo.
Donald riu e, enquanto Hwan falava alguma coisa com o barman, moveu outra vez seus olhos azuis, devagar, pelo ambiente escuro.
Havia alguns sul-coreanos, mas, como sempre acontecia nos bares em volta ao prédio do governo, a maioria era da imprensa internacional: Heather Jackson, da CBS; Barry Berk, do New York Times; Gil Vanderwald, do Pacific Spectator; e outros com quem ele não ia perder tempo conversando ou pensando a respeito. Exatamente o motivo por que tinha chegado cedo e se aboletado num canto escuro e distante do bar e por que sua mulher Soonji não viera se juntar a eles. Como Donald, ela achava que a imprensa nunca fora justa com ele – nem quando foi embaixador na Coreia, há vinte anos, nem ao se tornar consultor para assuntos coreanos do Centro de Operações, há três meses. Ao contrário do marido, porém, Soonji se irritava com o noticiário negativo. Gregory já tinha há muito aprendido a espairecer ao fumo do cachimbo, lembrete acalentador de que uma manchete, assim como uma tragada, só vale por um momento.
O barman veio, saiu e Hwan desviou sua atenção do bar, os olhos negros sobre Donald, o antebraço direito estendido sobre o balcão.
– Muito bem. E o que a sua pergunta quis dizer? – indagou.
– Sobre pensar no passado.
Donald terminou de encher o cachimbo.
– Você se lembra de um cara chamado Yunghil Oh?
– Vagamente. Ele costumava dar aula na agência.
– Foi um dos fundadores da seção de psicologia – disse Donald.
– Um vélho e cativante senhor de Taegu. Quando eu vim para cá pela primeira vez, em 1952, ele já estava de saída. Despedido, para falar a verdade. A KCIA estava fazendo tudo para se firmar como um grupo de espionagem nos moldes americanos e, quando ele não estava dando aula de guerra psicológica, ocupava-se apresentando a filosofia de Chondokyo.
– Religião na KCIA? Fé e espionagem?
– Nem tanto. Era uma espécie de abordagem celestial e espiritual que ele tinha desenvolvido para investigação e dedução. Ensinava que as sombras do passado e do futuro estão sempre à nossa volta.
Acreditava que, por meditação, refletindo sobre fatos e pessoas que existiram ou virão a existir, poderíamos alcançá-los.
– E daí?
– Daí que isso ajudaria a ver o que acontece hoje com mais clareza.
Hwan debochou:
– Não despediram o sujeito à toa.
– Não era para nós – concordou o americano – e, sinceramente, não acredito que ele tivesse os pés totalmente no chão. Mas é engraçado. Cada vez mais eu me vejo pensando que ele estava atrás de alguma coisa, ou que estivesse quase a ponto de alcançá-la.
Donald pôs a mão no bolso, procurando um fósforo. Hwan olhou com atenção seu antigo mentor:
– Alguma coisa concreta?
– Não – admitiu Gregory. – Só um palpite.
Hwan coçou o braço direito, devagar.
– Você sempre se interessou por gente diferente.
– E por que não? Sempre há uma chance de se aprender alguma coisa com elas.
– Igual àquele mestre de tae ktvon do que você arranjou pra nos ensinar naginata.
Donald riscou um palito de fósforo e, protegendo o cachimbo com a mão, levou o fogo ao tabaco:
– Aquele programa era bom. Deviam ter aperfeiçoado. Você nunca sabe quando vai estar desarmado e ser obrigado a se defender só com um jornal enrolado ou com um...
A faca voou rápido de sob o braço direito de Hwan, enquanto ele escorregava da cadeira. Na mesma hora, Donald se inclinou para trás, a mão ainda segurando o fornilho, girou o punho e disparou a haste do cachimbo na direção de Hwan. Aparou o golpe relâmpago da faca, virando o cachimbo no sentido anti-horário, a haste voltada direto para baixo e, com um contragolpe, desviou a faca para a esquerda.
Hwan puxou a faca outra vez e impulsionou para a frente. Donald girou o pulso e rebateu de novo, e depois uma terceira vez. Em seguida, seu jovem adversário procurou atingi-lo embaixo, zunindo a faca para a direita. Donald ergueu o cotovelo de lado, lançou a haste do cachimbo contra a faca e aparou também aquele golpe. O leve clique-claque do combate despertou a atenção das pessoas que estavam nas proximidades. Cabeças se voltaram em sua direção, enquanto os homens se digladiavam, seus antebraços indo para a frente e para trás como se fossem pistões, os punhos girando com classe e precisão.
– É sério? – perguntou um jovem técnico, com uma camiseta da CNN.
Nenhum dos dois disse nada. Pareciam alheios a tudo e a todos enquanto lutavam, olhos fixos um no outro, expressões impassíveis, os corpos sem qualquer movimento, com exceção do braço esquerdo. Respiravam rapidamente pelo nariz, os lábios bem comprimidos.
As armas continuavam a arremeter, enquanto a assistência fechava um semicírculo em volta dos combatentes. Finalmente, houve uma sequência de tirar o fôlego: Hwan arremeteu e Donald pegou a faca no ar, dobrou-a e, com um prise-de-fer, abriu levemente a mão do coreano. Continuou livrando levemente a faca até dar um golpe firme e mandar a faca para o chão.
Permaneceu com os olhos fixos em Hwan. E, balançando levemente a mão direita, apagou o fósforo que nela continuava a queimar.
A assistência explodiu batendo palmas e dando vivas, e várias pessoas se aproximaram para dar um tapinha nas costas do americano. Hwan riu e esticou a mão, que Donald tomou, sorrindo, entre as suas.
– Você continua formidável – elogiou Hwan.
– Você é que pegou leve.
– Só no primeiro golpe, pro caso de você demorar. Mas não demorou. Parecia um fantasma se movendo.
– Um fantasma? – falou uma voz doce, vinda de trás de Donald.
Ele se virou enquanto sua esposa abria caminho entre a plateia que se dispersava. Sua beleza jovial atraiu o olhar dos jornalistas.
– Isso foi exibicionismo barato – comentou com o marido. – Parecia o inspetor Clouseau com o criado.
Hwan curvou-se, enquanto Donald passava o braço em torno da cintura da mulher. Trouxe-a para perto de si e a beijou.
– Não era para você ver – disse Donald, riscando mais um fósforo e finalmente acendendo o cachimbo. Lançou um olhar para o relógio néon sobre o bar. – Pensei que tinha marcado de te encontrar no palanque em 15 minutos.
– Atrás.
Ele a olhou com curiosidade.
– Quinze minutos atrás.
A cara de Donald caiu e ele passou a mão pelo cabelo grisalho:
– Desculpe. Eu e Kim começamos a comparar umas histórias de horror e filosofias pessoais profundamente arraigadas.
– Muitas das quais provaram ser rigorosamente as mesmas – observou Hwan.
Soonji sorriu.
– Eu bem que achei que, depois de dois anos, vocês iam ter muito o que falar. – Olhou para o marido. – Meu bem, se vocês quiserem continuar conversando ou lutar com outros objetos depois da cerimônia, posso cancelar aquele jantar com meus pais...
– Não – disse Hwan, rapidamente. – Não faça uma coisa dessas. Eu ainda tenho que fazer a análise de um evento e isso vai me tomar a noite toda. Além do mais, conheci seu pai no casamento e ele é um homem enorme. Vou ver se vou a Washington em breve passar um tempo com vocês. Talvez até arranje uma mulher americana, já que o Greg pegou a melhor mulher da Coreia para ele.
Soonji sorriu de leve.
– Alguém tinha que ensiná-lo a relaxar.
Hwan disse ao barman para colocar as bebidas na conta da KCIA. Então, pegou a faca de volta, pousou-a no bar e olhou para o velho amigo.
– Antes de ir, eu queria lhe dizer uma coisa: senti muito a sua falta, Greg.
Donald fez um gesto em direção à faca:
– Isso me deixa contente.
Soonji deu-lhe um tapa no ombro. Ele estendeu o braço e acariciou seu rosto com as costas da mão.
– Estou falando sério – disse Hwan. – Tenho pensado muito nos anos do pós-guerra, quando você cuidou de mim. Mesmo que os meus pais estivessem vivos, eu jamais teria tido uma família tão gentil.
Hwan curvou rapidamente a cabeça e saiu. Donald olhou para o chão.
Soonji viu-o sair. Então, pôs uma mão delgada no ombro do marido:
– Ele estava com lágrimas nos olhos.
– Eu vi.
– Foi logo embora para não deixá-lo embaraçado.
Donald assentiu e olhou para a esposa, a mulher que lhe havia mostrado que juventude e sabedoria não eram mutuamente exclusivas – e que, a não ser pelo fato de demorar uma eternidade para ficar de pé, de manhã, a idade era só uma questão de cabeça.
– É isso o que o faz ser tão especial – disse Donald, enquanto Hwan saía para a luz do dia. – Kim é duro por fora e mole por dentro. Yunghil Oh costumava dizer que esse tipo de armadura servia para qualquer situação.
– Yunghil Oh?
Donald pegou a esposa pela mão e a levou para fora do bar.
– Um homem que costumava trabalhar para a KCIA. Alguém que estou começando a desejar ter conhecido um pouco melhor.
Deixando uma leve trilha de fumaça atrás de si, Donald acompanhou a esposa até a larga e movimentada Chonggyechonno. Rumaram para o norte, caminharam de mãos dadas em direção ao imponente palácio Kyongbok, nos fundos do velho Edifício do Capitólio, construído originariamente em 1392 e reformado em 1867. Ao se aproximarem, puderam ver o grande palanque VIP azul e o que prometia ser uma curiosa mistura de espetáculo e aporrinhação no dia em que a Coreia do Sul comemorava o aniversário da eleição de seu primeiro presidente.
Dois
Terça-feira, 17:30, Seul
O andar térreo do hotel condenado à demolição ainda tinha o cheiro das pessoas que dormiam ali: o odor rançoso e cheirando a álcool dos pobres e esquecidos, aqueles para quem o dia e o aniversário de hoje seriam apenas uma chance para ganhar uns trocados extras do público que vinha participar. Mas, apesar dos hóspedes permanentes estarem fora mendigando o pão daquele dia, o pequeno quarto de tijolos não estava vazio.
Um homem abriu a janela que dava para a rua e se esgueirou para dentro. Outros dois o seguiram. Dez minutos antes, os três estavam numa suíte do hotel Savoy, a base de operações, onde se vestiram com roupas comuns para andarem despercebidos pela rua. Cada um levava uma mochila preta sem etiqueta. Dois as transportavam com o maior respeito, enquanto o terceiro, que usava um tapa-olho, pouco se importava. Caminhou para onde os desabrigados haviam trazido pedaços de cadeira e roupas rasgadas, colocou a mochila numa velha carteira escolar e abriu o zíper.
Tapa-Olho tirou duas botas de dentro dela e as entregou para um dos homens. Passou um segundo par para o outro e ficou com o terceiro.
Rapidamente, os homens tiraram as botas que usavam, esconderam-nas em meio a um monte de sapatos velhos e calçaram os novos pares. Pegando de novo a mochila, Tapa-Olho tirou de dentro uma garrafa de água mineral, antes de guardar a bolsa num canto escuro do quarto. Não estava vazia, mas no momento não iam precisar do que estava ali dentro.
Daqui a pouquinho, pensou Tapa-Olho. Se tudo correr bem, só mais um pouquinho.
Segurando a garrafa de água nas mãos enluvadas, Tapa-Olho voltou à janela, levantou-a e olhou para fora.
O beco estava livre. Fez sinal aos companheiros.
Espremendo-se para passar pela janela, Tapa-Olho parou e ajudou os outros a passarem com as mochilas. No beco, abriu a garrafa de plástico e beberam quase toda a água. Em seguida, jogou o frasco no chão e pisou em cima, espalhando água por todos os lados. Então, com as duas mochilas ainda na mão, os três homens atravessaram o beco imundo, com o cuidado de pisar na água, a caminho da Chonggyechonno.
Quinze minutos antes da hora marcada para o início dos discursos, Kwang Ho e Kwang Lee – Kl e K2, como eram chamados por seus amigos na assessoria de imprensa do governo – testavam pela última vez o sistema de som.
Alto e magro, Kl estava de pé no palanque, o terno vermelho contrastando fortemente com o formalismo do edifício atrás de si.
A trezentos metros dali, atrás da tribuna, K2, alto e gordo, estava sentado no caminhão de som, debruçado sobre os controles e equipado com um headphone que pegava tudo que o seu companheiro dizia.
Dos três microfones, Kl se aproximou do que estava mais à esquerda.
– Tem uma mulher enorme sentada bem no alto da tribuna – declarou. – Ela é capaz de fazer as cadeiras desabarem.
K2 riu è teve que se conter para não pôr o som do parceiro no alto-falante. Em vez disso, apertou um botão na mesa de som à sua frente. Uma luz vermelha se acendeu sob o microfone, indicando que ele fora ligado.
Kl tapou o microfone com a mão esquerda e passou para o microfone do meio.
– Dá para imaginar como é que deve ser transar com ela? – falou. – Só o suor já bastaria para afogar alguém.
K2 sentiu-se ainda mais tentado a ligar o som, mas em vez disso apertou outro botão na mesa de som. A luz vermelha se acendeu.
Kl tapou o microfone do meio com a mão direita e falou no terceiro.
– Ah, mil desculpas. É aquela sua prima Ch’un. Juro que eu não sabia, Kwang.
K2 pressionou o último botão e ficou olhando Kl se aproximar do caminhão da CNN para se certificar de que o rango no caminhão da imprensa estava garantido.
Sacudiu a cabeça. Um dia ele realmente abriria o som. Esperaria até que o seu querido engenheiro falasse alguma coisa realmente embaraçosa e aí...
Tudo escureceu, enquanto K2 desabava sobre os controles.
Tapa-Olho empurrou o gordo para o chão do caminhão e guardou o cassetete no bolso. Enquanto começava a desaparafusar a mesa de som, um dos homens abria as mochilas cuidadosamente, ao passo que o terceiro se postava do lado da porta, cassetete na mão, para o caso do outro técnico voltar.
Trabalhando com extrema rapidez, Tapa-Olho retirou a tampa do painel, encostou-a na parede e olhou a fiação. Quando encontrou o fio que estava procurando, deu uma olhada no relógio. Tinham sete minutos.
– Rápido – grunhiu.
O outro homem acenou, enquanto tirava cuidadosamente os blocos de explosivo plástico do interior das mochilas. Depois, grudou-os na parte de baixo da mesa, onde jamais seriam vistos. Quando acabou, Tapa-Olho tirou dois fios de dentro das bolsas e os passou ao homem, que inseriu uma ponta em cada bloco e passou as outras pontas para Tapa-Olho.
Tapa-Olho olhou o palanque através da pequena janela blindada. Traidores e patriotas conversavam amavelmente entre si. Ninguém iria perceber que alguma coisa estava errada.
Desligando os três botões que controlavam os microfones, Tapa-Olho ligou rapidamente o fio dos explosivos à fiação do equipamento de som. Quando acabou, repôs a tampa de metal.
Seus homens pegaram uma mochila cada e os três saíram tão silenciosamente como haviam entrado.
Três
Terça-feira, 3:50, Chevy Ckase, Maryland
Paul Hood rolou na cama e deu uma olhada no relógio. Depois se recostou e passou a mão pelos cabelos pretos.
Não são nem quatro horas. Que coisa!
Não tinha o menor sentido. Mas nunca teve. Não havia nenhuma catástrofe iminente, nenhum problema pendente, nenhuma crise se aproximando. E, no entanto, desde que haviam se mudado para cá, sua mente pequena e ativa o acordava gentilmente do sono e dizia “Quatro horas são suficientes, senhor diretor! Está na hora de acordar e se preocupar com alguma coisa.”
Aquilo, sim, é que era maluquice. Na maior parte dos dias, o Centro lhe tomava cerca de 12 horas e, algumas vezes (como durante uma crise envolvendo reféns ou uma operação de espionagem), exatamente o dobro disso. Não era justo que o Centro o aprisionasse até durante a madrugada.
Como se eu tivesse escolha. Desde o começo da carreira como gerente de investimentos, até a sua breve passagem como segundo assistente do secretário do Tesouro e a administração de uma das cidades mais fantásticas e caóticas da face da Terra, ele sempre fora um escravo da própria mente, sempre pensando se não haveria um jeito melhor de fazer alguma coisa, ou se não teria se esquecido de algum detalhe, ou de agradecer a alguém, ou de revidar... até de beijar.
Ainda meio tonto, Paul coçou o queixo de traços fortes e bem enrugado. Depois, olhou para a mulher deitada ao seu lado.
Deus abençoe Sharon, que sempre conseguira dormir o sono dos justos. Mesmo assim, era casada com ele, o que já era o suficiente para deixar qualquer um exausto. Ou levá-los a um advogado. Ou as duas coisas.
Resistiu à tentação de tocar em seu cabelo ruivo – no mínimo nos cabelos. A lua cheia de junho banhava seu corpo esbelto com uma luz branca e intensa, fazendo-a se parecer com uma estátua grega. Estava com 41 anos, magra de tanto correr no Nordic Track, e aparentava ter dez anos a menos – com a energia de uma garota ainda dez anos mais jovem.
Sharon realmente era um fenômeno. Quando Hood era prefeito de Los Angeles, costumava chegar tarde para jantar, geralmente pendurando-se ao telefone durante toda a refeição, enquanto ela punha os garotos para dormir. Depois, vinha se sentar com ele ou se aninhava no sofá e mentia com a maior convicção, dizendo que nada de importante acontecera e que seu trabalho voluntário na ala pediátrica do Cedars tinha corrido muito bem. Deixava de lhe contar as coisas para que ele pudesse se abrir e despejar sobre ela a sua carga diária de problemas.
Não, lembrava-se ele. Nada de importante havia acontecido. Só as terríveis crises de asma do Alexander ou os problemas que a Harleigh tinha com os garotos da escola, as ameaças anônimas vindas por telefone, cartas e pacotes da extrema direita, da extrema esquerda e, certa vez, até numa encomenda expressa mandada por uma associação suprapartidária entre as duas.
Nada de importante.
Uma das razões pelas quais não se candidatara à reeleição era porque pensava que os filhos estivessem crescendo sem ele. Ou que ele estivesse ficando velho sem eles... não tinha certeza do que o incomodava mais. E mesmo Sharon, seu sólido apoio, começava a incentivá-lo, para o bem de todos, a achar um trabalho menos estafante.
Há seis meses, quando o presidente lhe oferecera a direção do Centro (uma organização nova e extremamente autônoma ainda não descoberta pela imprensa), Hood estava se preparando para voltar a ingressar num banco. Mas, quando falou com a família a respeito da proposta, seu filho de dez anos e sua filha de 12 ficaram eletrizados com a ideia de ir morar em Washington. A família de Sharon morava na Virgínia – e, como ele e ela bem sabiam, trabalhar com intriga e espionagem era bem mais interessante do que trabalhar com cheques e dólares.
Paul se virou de lado e estendeu a mão a apenas dois dedos dos ombros largos da esposa. Os editores de Los Angeles nunca souberam. Viam seu charme, sua inteligência e a maneira como ela sutilmente procurava afastar as pessoas do bacon e das rosquinhas nos trinta minutos do Programa McDonnell de Alimentação Saudável, transmitido pela tevê a cabo, mas jamais foram capazes de saber o quanto a sua força e a sua estabilidade permitiam que ele fosse um vencedor.
Passou a mão pelo ar, por sobre o braço da esposa. Um dia desses precisavam fazer isso na praia, em algum lugar onde ela não tivesse que se preocupar com a possibilidade de as crianças ouvirem, do telefone tocar ou do caminhão do correio aparecer. Já fazia muito tempo que eles não iam a lugar algum. A bem da verdade, desde que se mudaram para Washington.
Se ele pudesse relaxar, se não tivesse que ficar pensando em como as coisas estariam caminhando lá no Centro... Mike Rodgers era supercompetente, mas com a sorte que ele tinha, a agência passaria por sua primeira grande crise exatamente quando ele estivesse na Ilha de Pitcairn e levasse semanas para voltar. Ele jamais se perdoaria se Rodgers saísse vencedor e lhe entregasse a vitória embrulhada para presente.
Lá vai você outra vez.
Paul balançou a cabeça. Lá estava ele, deitado ao lado de uma das mulheres mais bonitas e adoráveis do distrito de Columbia e a cabeça divagando sobre trabalho. Disse para si mesmo: isso não é hora de fazer uma viagem. Está na hora é de fazer uma lobotomia.
Sentiu-se cheio de uma mistura de amor e necessidade enquanto olhava a mulher respirar devagar, o peito crescendo – convidando, pensava ele. Esticando a mão por sobre seu braço, fez os dedos passarem sobre o tecido da camisola. As crianças que acordassem. O que é que elas poderiam ouvir? Que ele amava a mãe delas e que ela o amava?
Seus dedos tinham acabado de tocar na camisola de seda quando ouviu o grito que vinha do quarto ao lado.
Quatro
Terça-feira, 17:55, Seul
– Gregory, você bem que devia passar mais tempo com ele. Sabia que está radiante?
Donald bateu o cachimbo contra a cadeira da tribuna. Viu as cinzas caírem da fila mais alta até a rua e depois guardou o cachimbo na caixinha.
– Por que você não viaja por uma ou duas semanas de cada vez Eu posso cuidar da Sociedade sozinha.
Donald mirou bem nos olhos dela.
– Porque agora eu preciso de você.
– Pode ficar com os dois. Como era aquela música do Tom Jones que a minha mãe sempre cantava? “My heart has love enoughfor two...”
Donald riu.
– Soonji, o Kim nunca vai saber o que ele fez por mim. Cada dia que eu o trazia do orfanato até em casa ajudava a manter minha sanidade mental. Havia uma espécie de equilíbrio cármico entre a inocência dele e as ações que planejávamos na KCIA e a época que eu trabalhava na embaixada.
Soonji franziu a testa.
– E o que isso tem a ver com o fato de você não poder passar mais tempo com ele?
– Quando eu estou com ele... Acho que em parte é cultural e em parte é uma característica pessoal, mas o fato é que eu nunca consegui incutir nele aquele aspecto que os garotos americanos aceitam com tanta facilidade: esqueçam seus pais e divirtam-se.
– E como é que você espera que ele o esqueça?
– Não espero, mas ele se comporta como se tudo o que fizesse para me agradar não fosse o suficiente e leva isso muito, mas muito a sério. A KCIA não tem conta naquele bar. Ele tem. Sabia que não ia me vencer naquela disputa, mas aceitou ser derrotado em público por minha causa. Quando está comigo, carrega o seu senso de dever como se fosse uma cruz. E eu não quero que isso o corroa.
Soonji passou o braço pelo dele e, com a mão livre, jogou o cabe lo para trás.
– Engano seu. Devia deixar que ele mostrasse a admiração do jeito que ele julgar necessário... – Parou por um instante, depois se empertigou.
– Soon, o que foi?
Soonji lançou o olhar na direção do bar.
– Aqueles brincos que você me deu no aniversário do nosso casamento. Acho que perdi um.
– Talvez você tenha deixado em casa.
– Não. Eu estava com eles no bar.
– Tem razão. Senti na hora que acariciei o seu rosto.
Soonji olhou o marido com firmeza.
– Foi aí que eu devo ter perdido. – Levantou-se e correu para a saída da tribuna. – Volto já!
– Deixa que eu ligo para lá – gritou Donald. – Alguém aqui deve ter um telefone celular.
Mas ela já tinha ido embora, descendo as escadas e, logo em seguida, caminhava apressada pela rua em direção ao bar.
Donald curvou-se para a frente e apoiou os cotovelos nos joelhos. A menina ficaria arrasada se realmente o tivesse perdido. Tinha acabado de mandar fazer os brincos para comemorar dois anos de casamento, incrustado com duas pequenas esmeraldas, suas pedras favoritas. Poderia mandar fazer de novo, mas não seria a mesma coisa. E agora era a Soonji quem iria carregar aquela culpa como se fosse uma cruz.
Balançou a cabeça devagar. Por que é que sempre que ele dava amor a alguém, isso retornava como dor? Kim, Soonji...
Talvez o problema estivesse nele. Um carma ruim ou algum pecado cometido em vidas passadas. Ou talvez ele tivesse um currículo de gato preto.
Recostando-se, Gregory voltou o olhar para o palanque, no momento em que o presidente da Assembleia Nacional se aproximava do microfone.
Cinco
Terça-feira, 18:01, Seul
Park Duk tinha as feições de um gato: redondas e despreocupadas, com olhos inteligentes e alerta.
No momento em que se levantou e caminhou para o palanque, a plateia na tribuna e o povo de pé, na rua, explodiram em aplausos. O presidente ergueu as mãos agradecendo, sua figura emoldurada majestosamente pelo imponente palácio, cujo interior ostentava uma coleção de ídolos antigos de várias regiões do país.
Gregory Donald mordeu os dentes, controlou-se, e seu semblante voltou a ficar neutro. Como presidente da Sociedade de Amizade Americano-Coreana, em Washington, tinha que se manter apolítico em relação a questões sul-coreanas. Se o povo estivesse a favor da reunificação com o norte, tinha que concordar com isso em público. Se estivesse contra, tinha que concordar com isso também.
Pessoalmente, ansiava pela reunificação. As duas Coreias tinham muito o que oferecer para o mundo e uma à outra – cultural, religiosa e economicamente – e o todo valia bem mais do que a soma das partes.
Duk, veterano de guerra e anticomunista radical, não aceitava sequer tocar no assunto. Com algum esforço, Donald podia até respeitar a sua posição política. Mas jamais conseguiria respeitar alguém que julgasse um assunto tão repugnante que não pudesse sequer ser e atido. Pessoas assim eram tiranas de nascimento.
Depois de uma leva de aplausos um pouco longa demais, Duk baixou as mãos, inclinou-se para a frente e falou. Porém, embora a boca se movesse, ninguém ouvia nada.
Duk recuou e, com um sorriso hipócrita, deu um tapinha no microfone.
– Partidários da unificação! – disse aos políticos sentados numa fila atrás de si. Vários bateram palmas baixinho. Populares que conseguiam ouvir também incentivaram e deram vivas.
Donald permitiu-se franzir levemente o sobrolho. Duk realmente o impressionava, tanto pelo seu jeito tranquilo quanto pelo número cada vez maior de adeptos que tinha.
Um flash vermelho chamou a atenção de Donald quando, de trás daquela pomposa cerimônia, uma pessoa de terno vermelho saiu correndo em direção ao caminhão de som.
Logo, logo seria consertado. Desde a Olimpíada de 1988, Donald se lembrava o quanto os sul-coreanos, espertos e atentos, eram bons em resolver problemas.
Deixou de franzir quando olhou para trás, na direção do bar, e viu Soonji correndo para ele. Erguia o braço em triunfo, e ele agradeceu a Deus por pelo menos uma coisa ter dado certo no dia de hoje.
Kim Hwan estava no interior de um carro comum na Sajingo, ao sul do palácio, a duzentos metros de onde o palanque fora armado. Dali, tinha uma visão completa da praça e de seus agentes postados nos telhados e nas janelas. Viu Duk se aproximar e depois recuar no palanque.
Um burocrata mudo: isso sim ele chamava de um mundo perfeito.
Pegou o binóculo a seu lado. Lá estava Duk, acenando para os seus seguidores dentre o público. Bem, gostasse ou não, isso era parte do jogo democrático. Melhor do que os oito anos com o general Chun Doo Hwan, no poder como chefe do comando da lei marcial. Kim tampouco gostara de seu sucessor, Roh Tae Woo, eleito presidente em 1987, mas que pelo menos fora eleito.
Moveu o binóculo na direção de Gregory e perguntou-se onde é que Soonji teria ido.
Se algum outro homem tivesse se casado com sua assistente, Hwan o odiaria até a morte. Sempre a amara, mas os regulamentos da KCIA proibiam relacionamentos entre funcionários. Seria muito fácil para um infiltrante obter informações colocando um pesquisador ou uma secretária nos quadros de pessoal e fazendo-os se envolver com um alto funcionário.
Por ela, bem que valia a pena ele se demitir, mas isso teria destruído os sentimentos de seu mentor. Gregory sempre achara que Hwan tinha a mente, a alma e a sensibilidade política de um agente da KCIA e gastara uma pequena fortuna educando-o e preparando-o para aquele tipo de vida. Por mais que as coisas às vezes se tornassem burocráticas, Hwan sabia que seu mentor estivera certo: aquela era a sua profissão.
Ouviu um bip vindo da esquerda e abaixou o binóculo. Havia um rádio de ondas curtas instalado no painel do carro. Quando alguém queria falar com ele, ouvia-se um sinal sonoro e uma luz vermelha se acendia acima do botão correspondente à posição.
A luz que apareceu vinha do agente colocado no telhado das Lojas Yi.
Hwan apertou o botão.
– Hwan falando. Câmbio.
– Senhor, um homem sozinho, de blazer vermelho, está correndo para o caminhão de som. Câmbio.
– Vou verificar. Câmbio.
Hwan pegou o telefone portátil e ligou para o escritório da coordenação do evento, no palácio.
Uma voz aflita perguntou:
– Sim. O que foi?
– Kim Hwan falando. Aquele homem correndo para o caminhão de som é de vocês?
– É. Caso não tenha notado, estamos sem som. Provavelmente por culpa de um dos seus homens, que rastrearam o palanque em busca de explosivos.
– Se a culpa for deles, vamos moer seus ossos.
Seguiu-se um longo silêncio.
– Ossos de cachorro. Os cães farejadores é que fizeram o rastreamento.
– Ótimo – disse o coordenador. – Um deles deve ter mijado num fio.
Isso foi um comentário político. Agora eu quero que você fique na linha até ouvir alguma coisa.
Seguiu-se mais um longo silêncio. De repente, uma voz longínqua estalou pelo telefone.
– Meu Deus! K2...
Hwan ficou imediatamente alerta.
– Aumenta o rádio. Quero ouvir o que ele diz.
O som da voz ficou mais alto.
– Kl – perguntou o coordenador – , que foi que houve?
– K2 está no chão, senhor! No chão. A cabeça está sangrando. Deve ter caído...
– Olhe a mesa de som.
Um silêncio tenso se seguiu.
– Os microfones estão desligados. Mas nós mesmos fizemos a checagem. Por que ele faria isso?
– Trate de ligá-los.
– Sim, senhor.
Hwan fechou os olhos. Segurou o telefone com toda a sua força e já estava saindo do carro.
– Diz para ele não tocar em nada! – berrou. – Alguém pode ter entrado lá e...
De repente, houve um clarão e o resto da frase foi engolido por uma enorme explosão.
Seis
Terça-feira, 4:04, Casa Branca
O telefone STU-3, de alta segurança, tocou na mesa de cabeceira. O painel tinha um visor LED retangular e iluminado que mostrava o nome e o número do interlocutor, e se a linha estava limpa ou não.
Sonolento, o presidente Michael Lawrence nem chegou a olhar para o visor quando pegou o fone.
– Sim?
– Sr. presidente, temos um problema.
O presidente se apoiou num cotovelo. Agora sim é que olhou para o mostrador. A chamada era de Steven Burkow, chefe da segurança nacional. Sob o número do telefone, estava escrito “Confidencial” – nem “Secreto”, nem “Ultra-Secreto”.
O presidente esfregou a palma da mão livre no olho esquerdo.
– O que foi? – perguntou, enquanto esfregava a mão no outro olho e via as horas no relógio ao lado do telefone.
– Senhor, há exatamente sete minutos ocorreu uma explosão em Seul, do lado de fora do palácio.
– A cerimônia – entendeu o presidente. – Qual a gravidade?
– Só vi muito rápido na televisão. Mas parece haver centenas de feridos e provavelmente algumas dezehas de mortes.
– Nossos também?
– Não sei.
– Foi terrorismo?
– É o que parece. Um caminhão de som explodiu.
– Alguém ligou se responsabilizando pelo atentado?
– O Kalt está com a KCIA agora no telefone. Por enquanto, ninguém.
O presidente já se pusera de pé.
– Telefone para Av, Mel, Greg, Ernie e Paul e mande-os nos encontrar na Sala de Situação às cinco e quinze. Libby estava lá?
– Já tinha saído da embaixada, mas ainda não havia chegado Queria pegar o discurso de Duk já no fim.
– Bela garota. Ligue para ela e passe para mim no andar térreo. E telefone para o vice-presidente no Paquistão e mande ele voltar esta tarde.
Depois de desligar, o presidente apertou o botão do interfone e pediu ao camareiro que lhe preparasse um terno preto com uma gravata vermelha – roupa de respeito, para o caso de ter que falar com a imprensa e não ter tempo de se trocar.
Enquanto andava rapidamente sobre o tapete macio em direção ao banheiro, Megan Lawrence se moveu na cama. Ouviu-a chamar seu nome baixinho, mas não prestou atenção, enquanto fechava a porta do banheiro.
Sete
Terça-feira, 18:05, Seul
Os três homens passaram tranquilamente pelo beco. Quando chegaram à janela do hotel, dois entraram, enquanto Tapa-Olho ficou vigiando a rua. Depois que entraram, ele foi atrás.
Tapa-Olho precipitou-se para a mochila que havia escondido e dela tirou três peças. Ficou com o uniforme de capitão sul-coreano e jogou os de oficiais subalternos para os outros. Estes tiraram as botas, colocaram-nas na mochila junto com as roupas que usavam e vestiram rapidamente os uniformes.
Quando acabaram, Tapa-Olho foi de novo até a janela, pulou para fora e fez sinal para os outros o seguirem. Com as bolsas na mão, atravessaram o beco rapidamente e se afastaram do palácio, em direção a uma rua lateral onde um quarto homem os esperava num jipe. Tão logo se acomodaram, o jipe entrou na Chonggyechonno e se dirigiu para longe do local da explosão. Para o norte.
Oito
Terça-feira, 4:08, Chevy Chase, Maryland
Fechando devagar a porta do quarto, Paul Hood caminhou para a cama do filho, pôs a mão em sua testa e ligou o abajur ao lado da cama.
– Pai... – gemeu o menino.
– Eu sei – disse Hood, acalmando-o. Girou os dedos para aumentar a luz aos poucos, depois esticou a mão para baixo da mesa de cabeceira e dali tirou o Pulmo Aide. Abrindo a tampa do kit que tinha o tamanho de uma merendeira, Hood destapou o tubo e passou para Alexander. O garoto pôs a ponta do tubo na boca, enquanto o pai monitorava a solução de Ventolin no receptáculo superior.
– Imagino que você vá querer me dar uma surra enquanto isso...
O menino fez que sim, solenemente.
– Vou lhe ensinar xadrez, sabia?
Alexander deu de ombros.
– É um jogo em que você pode aplicar surras mentais. Bem mais razoável.
Alexander fez uma careta.
Hood ativou o aparelho, depois foi até o pequeno Triniton num canto do quarto, ligou o Gênesis e voltou com dois joysticks, enquanto o logotipo do Mortal Kombat aparecia na tela.
– E nem pense em pôr a senha da versão mais violenta – disse Hood, antes de passar o joystick ao menino. – Não quero ver ninguém despedaçar meu coração esta noite.
O menino arregalou os olhos.
É isso aí. Sei tudo sobre a série A-B-A-C-A-B-B, que é o código de horror do vídeo. Vi quando você fez isso na última vez e pedi ao Matt Stoll para me contar o que era aquilo.
O garoto ainda tinha os olhos bem arregalados, enquanto o pai se sentava na beira da cama.
– É isso aí. Melhor não bancar o esperto com os tecnogênios do Centro, filhote. Nem com o chefe deles.
Com o bocal do nebulizador firme entre os dentes, Alexander se deu apenas ao trabalho de apertar o botão de partida. E logo o quarto foi tomado pelos grunhidos e pelo som das bofetadas, enquanto, na tela, Liu Kang e Johny Cage lutavam para derrotar um ao outro.
Pela primeira vez, Hood estava começando a jogar de igual para igual quando o telefone tocou. Àquela hora, só podia ser engano ou uma crise.
Ouviu as tábuas do assoalho estalarem e, pouco depois, Sharon meteu a cabeça dentro do quarto.
– Steve Burkow no telefone.
Hood ficou imediatamente ativo. Naquela hora, tinha que ser uma coisa séria.
Alexander aproveitara a interrupção para dar dois chutes no boneco do pai e, quando Hood se levantou, Johny Cage caía morto, para trás.
– Pelo menos dessa vez você não abriu meu coração – disse Hood ao pôr o joystick de lado e caminhar para a porta.
Agora foi a vez da esposa arregalar os olhos.
– Brincadeira de menino – disse Hood, enquanto passava por ela e lhe dava um tapinha na bunda, do lado de fora da porta.
O telefone do quarto era seguro. O portátil, não. Hood só demorou o tempo suficiente para o conselheiro de Segurança Nacional lhe relatar a explosão e convocá-lo para a reunião na Sala de Situação.
Sharon entrou no quarto. Pela porta, ouviu os sons da batalha, enquanto Alexander lutava contra o computador.
Eu não ouvi o acesso. Desculpe.
Hood tirou a parte de baixo do pijama e vestiu as calças.
– Tudo bem. Eu já estava acordado.
Com a cabeça, ela apontou o telefone.
– É sério?
– Terrorismo em Seul. Uma bomba explodiu. É tudo o que sei. Ela passou a mão pelos braços nus.
– Por acaso, você tocou em mim enquanto eu dormia?
Hood pegou uma camisa pendurada na maçaneta do armário e abriu um meio-sorriso.
– Estive pensando em fazer isso.
– Mmmm... Então eu devo ter sonhado. Seria capaz de jurar que você me acariciou.
Sentando-se na cama, Hood calçou seus Thom McCanns. Sharon sentou-se a seu lado e massageou-lhe as costas, enquanto ele amarrava os sapatos.
– Paul, sabe do que estamos precisando?
– De umas férias.
– Não só de férias, mas de um tempo para nós. A sós.
Ele se levantou e pegou o relógio, a carteira, as chaves e o cartão de segurança na mesa de cabeceira.
– Era exatamente o que eu estava pensando, antes de me levantar.
Sharon não disse nada. Uma torção de lábios bastou.
– Prometo que vamos tirar férias – falou Hood, beijando-a carinhosamente na testa. – Eu te amo e, assim que eu salvar o mundo, vamos sair e explorar uma parte dele.
– Vai ligar? – perguntou Sharon, ao saírem do quarto.
– Vou – disse Hood, andando rapidamente pelo hall, descendo dois degraus de escada de cada vez e voando porta afora.
Enquanto tirava o Volvo da garagem, discou rapidamente o número de Mike Rodgers e ligou o alto-falante.
O telefone foi atendido antes que terminasse o primeiro toque. Do outro lado da linha, silêncio.
– Mike?
– Sim, Paul – disse Rodgers. – Eu já soube.
Já soube?, espantou-se Hood. Ele gostava de Rodgers, tinha grande admiração por ele, e dependia dele cada vez mais. No entanto prometeu que, se algum dia pegasse o general de duas estrelas desinformado, iria se aposentar. Porque sua vida profissional jamais seria melhor que aquilo.
– Quem lhe contou? Alguém da base em Seul?
– Não. Vi na CNN.
Hood se espantou ainda mais. Ele mesmo não conseguia dormir, mas estava começando a ter a impressão de que Rodgers não precisava dormir. Talvez os solteiros tivessem mais energia ou então ele tinha feito um pacto com o diabo. Teria a resposta se algum dia dormisse com uma de suas namoradinhas de vinte anos, ou daqui a seis anos e meio, o que viesse primeiro.
Como a linha do carro não era segura, Hood tinha que dar suas ordens com cuidado.
– Mike, estou a caminho da casa do chefe. Não sei o que ele vai dizer, mas quero que você ponha em campo um time de ataque.
– Boa ideia. Alguma razão para pensar que ele finalmente vá deixar a gente jogar no exterior?
– Não. Mas se ele decidir que vai endurecer a partida com alguém, pelo menos já temos um bom começo.
– Gostei. Como bem disse lorde Nélson, na batalha de Copenhague: “Anotem isso! Eu não estaria em outro lugar nem por todo o dinheiro do mundo.”
Hood desligou o telefone, sentindo-se estranhamente inquieto com o comentário de Rodgers. Mas tirou-o da cabeça enquanto ligava para o diretor-assistente do turno da noite, Curt Hardaway, e lhe dava a ordem de reunir a equipe principal no escritório às cinco e meia. Também pediu que localizasse Gregory Donald, que ele sabia ter sido convidado para a cerimônia – e com quem ele esperava que estivesse tudo bem.
Nove
Terça-feira, 18:10, Seul
Gregory Donald fora jogado três filas para trás de onde estava sentado, mas caíra em cima de uma coisa que amortecera a sua queda. Sua benfeitora, uma senhora gorda, lutava para se levantar, e Donald rolou de cima dela, tomando cuidado para não cair sobre o jovem a seu lado.
– Perdão – falou, aproximando-se da mulher. – Tudo bem com a senhora?
A mulher nem olhou para ele e só quando perguntou mais uma vez é que Donald se deu conta do estrilado alto que havia em seus ouvidos. Levou um dedo até a orelha. Não havia sangue, mas logo viu que iria demorar um pouco até voltar a ouvir alguma coisa claramente.
Ficou um tempo sentado, reorganizando sua mente. Primeiro, pensou que a tribuna houvesse desabado, mas, evidentemente, não era o caso. Depois, lembrou do barulho de destruição, logo seguido pelo baque no peito, um impacto estrondoso que o atirou longe e sem sentidos.
Sua mente logo se refez.
Uma bomba. Só podia ter sido uma bomba.
Virou a cabeça para direita, na direção do bulevar.
Soonji!
Levantando-se ainda tonto, Donald esperou um instante para ter certeza de que não iria desmaiar, depois desceu rapidamente as escadas da tribuna para a rua.
A poeira da explosão permanecia no ar como se fosse um denso nevoeiro e era impossível enxergar mais de dois palmos em qualquer direção. Enquanto passava pelas pessoas, na tribuna e depois na rua, algumas se sentavam em estado de choque, ao passo que outras tossiam, gemiam e abanavam a mão na frente do rosto para limpar o ar, muitas tentando se levantar ou sair de baixo dos escombros. Corpos ensanguentados espalhavam-se aqui e ali atingidos pelos destroços da explosão.
Donald sentia muito por eles, mas não podia parar. Não até que tivesse certeza de que Soonji estava bem.
O som abafado das sirenes suplantou o zumbido em seus ouvidos, e ele parou para procurar as luzes vermelhas: onde elas estivessem, seria o lugar do bulevar. Depois de vê-las, ele meio que andou, meio que cambaleou, pela nuvem de poeira, às vezes se desviando repentina e desajeitadamente de vítimas ou de grandes entulhos de ferro retorcido. Ao se aproximar da rua, pôde ouvir gritos abafados e divisar a silhueta de pessoas com o jaleco branco dos médicos, ou com o uniforme azul da polícia, indo de um lado para o outro.
Donald estacou na hora em que quase bateu na roda de um caminhão. O enorme disco de ferro girava devagar, com restos de borracha nele pendurados como algas escuras presas num galeão. Olhando para o chão, Donald percebeu que já estava no bulevar.
Recuou um passo e olhou à direita...
Não. Para o outro lado. Ela estava vindo da direção das Lojas Yi.
Retesou-se quando alguém lhe puxou o braço. Olhou para a direita e viu uma moça vestida de branco.
– O senhor está bem?
Ele fechou os olhos e indicou a orelha.
– Perguntei se está tudo bem com o senhor.
Ele assentiu.
– Cuide dos outros – berrou. – Estou tentando chegar à loja de departamentos.
A moça o olhou com estranheza.
Tem certeza de que está bem?
Ele assentiu de novo, enquanto gentilmente retirava a mão dela de seu braço.
Eu estou bem. Mas minha mulher estava passando por ali e eu tenho que encontrá-la.
Os olhos da médica tornaram-se sinistros na hora que ela falou:
– Mas a loja é aqui, senhor.
Enquanto ela se virava para ajudar alguém que se apoiava numa caixa de correio, Donald andou vários passos para trás e olhou para cima. As palavras o haviam atingido como se fossem uma segunda explosão e ele lutava para levar um pouco de ar ao peito que lhe apertava. Agora era capaz de ver que o caminhão não só havia se virado de lado, como também fora jogado contra a fachada das Lojas Yi. Apertou os olhos com toda a força e segurou a cabeça dos dois lados, enquanto a sacudia vigorosamente, tentando não imaginar o que estaria do outro lado.
Nada lhe aconteceu, disse a si mesmo. Era uma garota de sorte, todos sempre souberam disso. A garota que ganhava os prêmios, que apostava nos cavalos vencedores, que se casara com ele. Ela estava bem. Tinha de estar.
Sentiu uma outra mão em seu braço e se virou abruptamente. O cabelo longo e preto estava salpicado de branco, o vestido bege estava encardido de sujeira, mas Soonji estava de pé a seu lado, sorrindo.
– Graças a Deus – gritou Donald e a abraçou fortemente. – Eu estava tão nervoso, Soon! Graças a Deus que está tudo bem com você...
Sua voz se apagou quando ela de repente cambaleou. Ele moveu os braços para pegá-la pela cintura e a manga do paletó ficou presa às suas costas.
Com um horror cada vez maior, ele se ajoelhou com a mulher nos braços. Colocando-a cuidadosamente de lado, olhou para as costas dela e engasgou quando viu o lugar onde a roupa se queimara, tanto a carne como o tecido ensopados de sangue vermelho-escuro, os ossos brancos aparecendo. Agarrando-se à mulher, Gregory Donald se viu gritando e ouviu claramente o brado que lhe assomava do fundo da alma.
Um flash espocou e o conhecido rosto da médica se aproximou. Fez sinal a alguém a seu lado e logo outras mãos procuravam desvencilhar as suas, tentando soltar Soonji dos seus braços. Donald resistiu, depois deixou-a ir, quando viu que não era bem do seu amor que aquela coisinha preciosa mais precisava agora.
Dez
Terça-feira, 18:13, Nagato, Japão
A sala de pachinko era uma versão menor das que ficaram famosas no bairro de Ginza, em Tóquio. Longa e estreita, a construção tinha o comprimento de dez vagões de carga enfileirados. O ar estava tomado pela fumaça dos cigarros e pelo barulho das bolinhas nas máquinas onde os homens jogavam, ao longo de ambas as paredes.
Cada máquina se compunha de uma superfície reta e circular de um metro de altura, cerca de sessenta centímetros de diâmetro e uns 15 centímetros de profundidade. Sob a tampa de vidro, sobressaíam os rebatedores e as barras de metal contra o fundo colorido. Quando o jogador inseria uma moeda, pequenas bolas de ferro caíam da parte de cima do aparelho e iam batendo nos obstáculos, como no pinball, e descendo de todas as maneiras. O jogador girava um botão no lado direito, numa tentativa de fazer as bolas chegarem até a saída. Quanto mais bolas caíssem na abertura, mais bilhetes ele ganhava. E, depois de ganhar um certo número deles, levava-os até a entrada e trocava por um animal empalhado de sua escolha.
Apesar de o jogo ser ilegal no Japão, não era proibido que um jogador vendesse o animal que ganhara – o que ocorria num pequeno quarto dos fundos, onde ursinhos valiam vinte mil ienes, coelhos grandes pagavam o dobro e tigres saíam por sessenta mil ienes.
O jogador médio passava ali cerca de cinco horas por noite e geralmente havia cerca de duzentos jogadores nas sessenta máquinas da sala. E, por mais que gostassem de ganhar, poucos iam ali pensando em lucro. Havia algo de inebriante na maneira como as bolinhas passavam pelo labirinto irregular, na expectativa de ter a sorte a seu favor ou contra você. Era realmente o jogador contra o destino, definindo o seu lugar aos olhos dos deuses. Uma crença bem arraigada dizia que se você conseguisse mudar o seu destino ali, as mudanças também ocorreriam na vida real. Ninguém sabia explicar por que, mas o fato é que costumava funcionar.
As salas se espalhavam por todas as ilhas do Japão. Algumas pertenciam a famílias legítimas, cuja propriedade remontava a vários séculos. Outras pertenciam a grupos criminosos, notadamente a Yakuza e o Sanzoku – uma liga de gângsteres e um velho clã de foras-da-lei.
A sala de Nagato, na costa oeste de Honshu, pertencia à família independente dos Tsuburayas, que a administrava, com seus antepassados, há mais de duzentos anos. As organizações criminosas faziam ofertas regulares e respeitosas para adquirir a sala, mas os Tsuburayas não tinham o menor interesse em vender. Utilizavam os lucros para fazer negócios na Coreia do Norte, uma abertura potencialmente lucrativa e que esperavam ampliar, assim que a unificação se tornasse realidade.
Duas vezes por semana, às terças e às sextas, Eiji Tsuburaya mandava milhões de ienes para a Coreia do Norte através de dois mensageiros residentes no sul. Ambos chegavam na barca do fim da tarde, carregando duas malas vazias e comuns, e iam direto ao quartinho nos fundos da sala. Saíam com as malas cheias e já estavam de volta à barca antes que ela manobrasse e fizesse a viagem de duzentas e cinquenta milhas até Pusan. De lá, o dinheiro entrava clandestinamente na Coreia do Norte através de integrantes do grupo Patriotas para uma Coreia Unificada (PCU), composto de gente do norte e do sul, desde empresários até funcionários da alfândega e limpadores de rua. Acreditavam que o lucro dos empresários e uma grande prosperidade para a população do Norte em geral obrigaria os líderes comunistas a aceitarem um mercado livre e, em última análise, a reunificação.
Como sempre, os homens saíram da sala, entraram num táxi à espera e permaneceram calados nos dez minutos da corrida até a barca. Dessa vez, contudo, ao contrário dos outros dias, foram seguidos.
Onze
Terça-feira, 18:15, Seul
Kim Hwan viu Donald sentado no meio-fio, com a cabeça entre as mãos, as calças e o paletó cobertos de sangue.
– Gregory! – gritou, enquanto corria para lá.
Donald ergueu os olhos. Havia um misto de sangue e de lágrimas em seu rosto e no cabelo grisalho e desarrumado. Procurou se levantar, mas suas pernas tremeram e ele caiu. Hwan o aparou e o abraçou fortemente enquanto sentavam. O agente se afastou um pouco, apenas o suficiente para se certificar de que o sangue não era do amigo, depois voltou a abraçá-lo.
As palavras de Donald eram engolidas pelos soluços. Esforçava-se para respirar.
– Não diga nada – falou Hwan, tentando acalmá-lo. – Meu assistente me falou.
Donald parecia não ouvi-lo.
Ela... era... uma alma... tão... pura...
Era, sim. Deus vai tomar conta dela.
Kim... Ele não devia tê-la chamado... Devia ter sido eu. Ela devia estar aqui...
Hwan procurou controlar as próprias lágrimas, enquanto apertava o rosto contra a cabeça do amigo.
– Eu sei.
A quem ela... ofendeu? Não havia nenhuma... maldade nela.
Não consigo entender. – Apertou o rosto contra o peito de Hwan
– Eu a quero de volta, Kim... Eu... a... quero...
Hwan viu um médico virar naquela direção e fez sinal para ele vir. Ainda aparando Donald, Hwan ergueu-se devagar.
– Quero que me faça um favor, Donald. Quero que tratem de você. Para garantirem que você está bem.
O médico pegou no braço do americano, mas ele se desvencilhou.
– Eu quero ver Soonji. Para onde levaram... minha mulher?
Hwan olhou para o médico, que apontou um cinema. Várias sacos funerários estavam no chão e outros estavam sendo carregados.
– Já estão tomando conta dela, Gregory, e você precisa de cuidados. Pode estar ferido.
– Estou bem.
– Senhor – disse o médico para Hwan – , há outras pessoas...
– Claro, claro. Desculpe. Obrigado.
O médico saiu depressa e Hwan recuou um passo. Ainda segurando Donald pelos ombros, encarou seus olhos negros, sempre tão cheios de amor, mas agora vermelhos e marejados de dor. Não podia obrigá-lo a ir a um hospital, mas também não podia deixá-lo sozinho.
– Gregory, poderia me fazer um favor?
Donald olhava além de Hwan, voltando a chorar.
– Vou precisar de ajuda neste caso. Você está comigo?
Donald olhou para ele.
– Quero ficar com Soonji.
– Gregory...
– Eu a amo. Ela... precisa de mim.
– Não – retrucou Hwan, com tato. – Não há nada que possa fazer por ela. – Ele se virou e apontou para o cinema, a uma quadra dali. – Aquele não é o seu lugar. Você tem que ficar com os que pode ajudar. Vem comigo. Ajude-me a encontrar as pessoas que fizeram isso.
O americano piscou várias vezes, depois tateou os bolsos aleatoriamente. Hwan pôs a mão no bolso do amigo.
– É isso o que está procurando? – perguntou, passando-lhe o cachimbo.
Donald o pegou, com movimentos confusos e hesitantes, e Hwan ajudou-o a colocar o cachimbo na boca. Quando ainda não tinha apanhado o tabaco, Hwan tomou-o pelo braço e levou-o dali, no meio da poeira que assentava e da atividade cada vez maior na praça.
Doze
Terça-feira, 5:15, Casa Branca
A Sala de Situação da Casa Branca localizava-se no primeiro subsolo, logo abaixo do Salão Oval. Uma mesa longa e retangular de mogno ficava no meio do ambiente fortemente iluminado. Cada estação tinha um STU-3 e um monitor de computador com o teclado num apoio removível. Como ocorria com todos os computadores oficiais, a configuração era autossuficiente. Qualquer software externo, mesmo do Departamento de Estado, tinha que ser inspecionado antes de admitido no sistema.
Na parede, mapas detalhados indicavam a posição das tropas americanas e estrangeiras, com bandeirinhas apontando as áreas problemáticas: vermelhas para crises em andamento e verdes para iminentes. Já fora colocada uma bandeira vermelha em Seul.
Paul Hood chegou ao portão oeste da Casa Branca e, depois de passar pelo detetor de metais, desceu um andar pelo elevador. Quando a porta se abriu, sua identidade foi conferida por um fuzileiro naval na sentinela, que o escoltou até uma pequena mesa ao lado de uma porta sem maçaneta. Hood pressionou de leve seu polegar num pequeno visor da mesa e, no momento seguinte, uma campainha soou e a porta se abriu. Hood entrou e passou pelo guarda que comparara sua impressão digital contra a que estava no arquivo do computador. Se as duas não batessem, a porta não teria sido aberta. Só o presidente, o vice-presidente e o secretário de Estado não estavam sujeitos a essa inspeção de segurança.
A porta para a Sala de Situação se abriu e Hood entrou. Quatro altos funcionários já estavam ali: o secretário de Estado, Av Lincoln; o secretário de Defesa, Ernesto Colon; o chefe do Estado-Maior, Melvin Parker; e o diretor da CIA, Greg Kidd, conversavam num canto afastado da porta. Duas secretárias sentavam-se a uma mesinha de canto Uma estava ali para tomar nota, em código, num Powerbook, e a outra para buscar no computador qualquer informação que eventualmente fosse pedida. Um fuzileiro naval retirava xícaras, bules de café e jarros de água.
Os homens receberam Hood com palavras e acenando com a cabeça. O único que se dirigiu até ele foi Lincoln. Tinha pouco menos de 1,80m de altura, corpo bem definido, rosto redondo e um tufo de cabelos na testa já rareando. Ex-lançador da Major League e membro do Hall of Fame, ele saiu do beisebol para a Assembleia Estadual de Minnesota, e de lá para o Congresso, mais rápido do que as bolas que arremessava. Foi o primeiro político a apoiar a candidatura do governador Michael Lawrence à presidência e, como recompensa, ganhou o Departamento de Estado. Muitos concordavam que lhe faltava a habilidade diplomática necessária para o cargo e que ele tratava o trivial como se fosse uma grande novidade. Mas Lawrence podia ser tudo, menos desleal.
– Como vão as coisas? – perguntou Lincoln, estendendo a mão.
– Vão bem, Av.
– Foi muito bom o trabalho do seu pessoal no Salão da Independência, naquele 4 de julho. Realmente impressionante.
– Obrigado, mas o trabalho nunca é totalmente bem-sucedido se um refém fica ferido.
Lincoln moveu a mão com desgosto.
– Ninguém morreu e isso é o que interessa. Droga, quando você tem que coordenar uma operação conjunta entre o FBI, a polícia local e a sua própria equipe de ataque, com a mídia toda de olho em você, Isso já é um milagre. – Serviu-se de uma xícara de café. – É como esse caso, Paul. Já está na televisão e os comentaristas falando bobagem na imprensa. Antes do café da manhã já vão ter pesquisas opinião mostrando que 77% dos americanos acham que não devíamos estar na Coreia, nem em lugar nenhum.
Hood olhou para o relógio.
– Burkow ligou para cá. Disse que vão se atrasar – avisou Lincoln. – O presidente está com a embaixadora Hall no telefone. Ele não quer que os americanos vão para a embaixada, nem sejam expulsos de lá, a não ser que dê ordens expressas para isso. Também não quer ações ou declarações que reflitam qualquer sinal de pânico.
– Lógico.
– Sabe como é fácil essas coisas se tornarem profecias que se auto-realizam.
Hood assentiu.
– Alguma coisa sobre quem seria o autor?
– Nada. Todo mundo condenou o atentado, inclusive a Coreia do Norte. Mas o governo não fala em nome da linha-dura, portanto quem vai saber?
O secretário de Defesa falou do outro lado da sala:
– A Coreia do Norte sempre condena o terrorismo, até o deles mesmos. Quando atiraram naquele boeing da Korean Air Lines, condenaram o incidente na mesma hora em que varriam os destroços para ver se tinha alguma câmera espiã.
– E acabaram encontrando – disse Lincoln baixinho, enquanto andava em direção aos outros.
Hood pensou na política norte-coreana de atirar primeiro e perguntar depois, enquanto se servia de café. A última vez que estivera naquela sala foi quando os russos derrubaram um avião de espionagem lituano e o presidente decidiu não bater duro. Ele jamais se esqueceria da maneira como Lincoln literalmente se levantou e falou: “E o que o senhor pensa que os líderes do mundo iriam dizer se nós algum dia derrubássemos um avião estrangeiro? O mundo inteiro nos crucificaria!”
Ele tinha razão. Por algum motivo, as regras não eram as mesmas para os Estados Unidos.
Hood se sentou no lado noroeste da mesa, o mais longe possível do presidente. Gostava de ficar vendo os outros exibirem autoridade e aquele era o melhor lugar para isso. A psicóloga do Centro de Operações, Liz Gordon, havia lhe ensinado a entender a linguagem corporal: mãos entrelaçadas sobre a mesa eram sinal de submissão; uma postura ereta demonstrava confiança, enquanto inclinar-se para a frente queria dizer insegurança (Olhem para mim! Olhem para mim!). A cabeça inada significava desafio. “É como um boxeador mostrando o queixo” dizia ela, “desafiando-lhe a bater, porque acha que você não vai conseguir.”
Assim que se sentou, Hood ouviu a porta externa se abrir, seguida da voz altissonante do presidente dos Estados Unidos. Dois anos antes na época da campanha, um articulista dissera que aquela voz é que ganhara os derradeiros votos dos indecisos. A voz parecia vir de um lugar próximo aos joelhos e, quando chegava à boca, já estava cheia de um poder e de uma grandiosidade olímpicos. Isso e mais a sua altura de l,90m lhe conferiam uma aparência e um discurso de presidente, embora tenha tido que usar boa parte desse capital para explicar dois fiascos em matéria de política externa. O primeiro fora a iniciativa de mandar mantimentos e armas para rebeldes no Butão que se opunham a um regime de opressão, uma revolta que terminou com milhares de prisões e execuções e deixou o regime mais forte do que nunca. O segundo fora tentar tratar diplomaticamente uma disputa de fronteira entre a Rússia e a Lituânia, que acabou com Moscou não só abocanhando uma parte do território da pequena república, mas também ali deixando seus soldados – o que deu origem a um enorme êxodo para a cidade de Kaunas, cujo resultado foram saques violentos em busca de comida e centenas de mortes.
Sua credibilidade na Europa ficara chamuscada, o Congresso já duvidava de sua força, e agora não podia mais se dar ao luxo de um terceiro fracasso – especialmente com um aliado de longo tempo.
Do momento em que entraram, o assessor de Segurança Nacional Steve Burkow fez tudo o que estava ao seu alcance pelo presidente, menos puxar-lhe a cadeira. Serviu café para os dois, enquanto se sentavam, o presidente já falando antes de todos terem tomado assento.
Senhores – disse ele – , como todos sabem, há uma hora e 15 minutos um caminhão de som explodiu na frente do palácio yongbok, em Seul. Dezenas de políticos e espectadores morreram até agora, a KCIA não tem a menor pista de quem tenha sido, ou qual o motivo. Não houve ameaças antes da hora, e ninguém ligou assumindo a autoria do atentado. A embaixadora Hall não fez nenhum pedido, exceto que reiterássemos o nosso apoio ao governo e povo da Coreia do Sul e dei ordem ao nosso porta-voz Tracy para que fizesse exatamente isso. A embaixadora Hall vai fazer uma declaração imediatamente condenando o ato. – Recostou-se. – Ernie, na eventualidade de ter sido a Coreia do Norte, qual seria a nossa política padrão de operação?
O secretário de Defesa voltou-se para uma das secretárias e pediu:
– Arquivo CN-EP.
Quando voltou a olhar a mesa, o arquivo CORÉIA DO NORTE – ESTADO DE PRONTIDÃO já estava sendo exibido. Juntou as mãos.
– Para ser breve, presidente, a política seria ficar em Defcon 5. Colocamos nossas bases na Coreia do Sul e no Japão em estado de prontidão e começamos a enviar tropas de Fort Pendleton e Fort Ord. Se a espionagem captar algum sinal de que as tropas coreanas estejam se mobilizando, passamos imediatamente a Defcon 4 e começamos a movimentar nossos navios no oceano Índico, para que as Tropas de Avanço Rápido fiquem em posição. Se a Coreia do Norte responder a essa movimentação com manobras, o efeito dominó sucederá rapidamente e passamos logo aos procedimentos avançados de manobra Defcon 3,2 e 1. – Olhou para o monitor e com o dedo tocou o diretório intitulado JOGOS DE GUERRA. – Se chegarmos ao ponto em que não haja retorno possível, estaremos diante de três cenários.
Hood olhou de um rosto para o outro. Todos estavam calmos, exceto Lincoln, inclinado para a frente e batendo o pé direito rapidamente no chão. Esse tipo de crise era para ele, que queria dar uma grande resposta. O chefe do Estado-Maior, Melvin Parker, demonstrava uma aparência oposta. Seu rosto e sua postura estavam retraídos, tanto quanto Ernie Colon. Em casos como esses, os militares nunca eram os primeiros a advogar o uso da força. Eles sabiam o preço que mesmo uma operação bem-sucedida custava. Eram sempre os políticos ou os ministros, frustrados e impacientes, que almejavam ter uma vitória no currículo, por mais rápida e suja que fosse.
O secretário de Estado colocou seus óculos de leitura e examinou o monitor. Correu o dedo pelo menu e tocou no visor onde estava a ATUALIZAÇÃO DO INFORME DE DEFESA.
– Se explodir uma guerra e os Estados Unidos assumirem um papel coadjuvante, a Coreia do Sul será dominada pela do Norte em cerca de duas a três semanas. Podem ver com os próprios olhos a comparação de forças.
Hood examinou os números. Pareciam mesmo ser tão ruins para o exército sul-coreano como Colon dizia.
Comparação das forças militares da Coreia do Norte e do Sul:
Efetivo:
Sul
Norte
Exército
540.000
900.000
Marinha
60.000
46.000
Aeronáutica
55.000
84.000
Total
655.000
1.030.000
Contingente:
Tanques
1.800
3.800
Veículos blindados
1.900
2.500
Artilharia
4.500
10.300
Contingente:
Combatentes
190
434
Embarcações de apoio
60
310
Submarinos
1
26
Aviões táticos
520
850
Aviões de apoio
190
480
Helicópteros
600
290
Passados alguns segundos, Colon trouxe de volta o menu e tocou em 8o EXERCITO NORTE-AMERICANO ATUAL.
– O segundo cenário já incluiria as nossas forças baseadas na Coreia do Sul. Mesmo assim, a situação continua sendo desfavorável para nós.
Hood olhou para as novas informações.
Forças norte-americanas na Coreia do Sul e Efetivo
Exército:
25.000
Marinha:
400
Aeronáutica:
9.500
Tanques:
200
Veículos blindados:
500
Aviões táticos:
100
– O efeito de se aliar à Coreia do Sul numa guerra seria meramente intimidatório: será que a Coreia do Norte desejaria realmente uma guerra com os Estados Unidos?
Kidd, o diretor da CIA, perguntou:
– Essa mesma intimidação existiria se atuássemos apenas como apoio?
– Infelizmente, não. Se Pyongyang achar que não estamos dispostos a lutar, vão partir para Seul do mesmo modo que Bagdá invadiu o Kuwait, quando pensaram que só íamos ficar observando.
– E não levaram um susto? – murmurou Lincoln.
O presidente falou, impaciente:
– E o terceiro cenário seria um ataque decisivo?
– Exatamente – disse Colon. – Nós e os sul-coreanos atacaríamos os centros de comunicação, as linhas de abastecimento e as usinas nucleares com armamento convencional. Se as simulações de guerra estiverem certas, a Coreia do Norte irá para a mesa de negociação.
– Por que não pediriam ajuda à China e retaliariam? – indagou Kidd.
Parker, o chefe do Estado-Maior, respondeu:
– Porque sabem que desde os cortes de ajuda, em 1968, e a incapacidade conjunta das doze divisões sul-coreanas e das duas divisões americanas de reprimir um ataque, desde 1970, nossos planos de defesa têm-se baseado praticamente no emprego imediato de armamentos nucleares.
– Fomos nós que vazamos essa informação? – perguntou o presidente.
– Não, senhor. Leram isso nas revistas especializadas. Meu Deus, em 1974, a Time ou a Rolling Stone, ou alguém que odiava o Nixon escreveu um artigo falando do nosso plano de armas nucleares para a Coreia.
Kidd se recostou:
– Isso ainda não garante que eles não vão pedir ajuda à China e que Beijing não vá apoiá-los com armas nucleares.
– Não consigo ver isso acontecendo. – Colon consultou o menu e tocou o diretório intitulado OPÇÃO CHINESA.
– Mel, os EXGUE são da sua conta.
– Perfeitamente. – Apesar do ar-condicionado agradável ligado na sala, o franzino chefe do Estado-Maior das Forças Armadas suava. – Idealizamos um pequeno Exercício de Guerra num cenário semelhante a esse, algum tempo atrás, quando Jimmy Carter foi à Coreia do Norte e manteve um diálogo com Kim Il Sung. Dada a situação militar na China e os perfis psicológicos dos líderes de lá (fornecidos pelo seu pessoal, Paul), descobrimos que, se diminuíssemos as restrições a investimentos na China, ao mesmo tempo em que autorizássemos o fornecimento de armas a facções antichinesas no Nepal, via Índia, seria improvável que os chineses se envolvessem.
– Improvável até que ponto? – perguntou o presidente.
– Oitenta e sete por cento de permanecer neutro.
Colon disse:
– Chegamos a uma cifra ligeiramente diferente nas nossas simulações de AEAS. Cerca de setenta por cento. Mas a Agência de Estudos, Análises e Simulações não contava com perfis atualizados, portanto estou inclinado a concordar com os números de Mel.
Embora Hood estivesse ouvindo com a maior atenção, seu rosto impassível, ele se viu um tanto ansioso quanto ao que Liz teria escrito. Nutria o maior respeito pela psicóloga, assim como tinha Matt Stoll, oficial de Apoio Operacional, na mais alta conta. Mas colocava análises de computador e psicologia num lugar e numa posição abaixo da velha e boa intuição. Ann Farris, sua assessora de imprensa, costumava dizer que ele sempre gostara da sua própria intuição, e tinha razão.
O presidente olhou o relógio na parte de baixo do monitor e ergueu as mãos. Colon fez sinal à secretária para limpar a tela, e Hood viu quando a tela se encheu de mísseis de animação voando de um lado para o outro.
– Senhores – disse o presidente depois de um longo silêncio – , quero que todos sirvam na Força-tarefa Coreana, pelo tempo que for necessário, e Paul – virou seu olhar para Hood – , você vai ser o chefe.
Aquilo pegou o diretor do Centro de Operações de surpresa – bem como a todos os demais na sala.
– Vai providenciar um Estudo de Estado-Maior para daqui a quatro horas. A não ser no caso de futuros atos de agressão ou terrorismo, vai trabalhar com a perspectiva de que teremos algum tipo de manobras avançadas, mas nenhuma ação militar nas primeiras 24 horas. Isso deve dar a vocês e ao resto da Força-tarefa tempo para avaliar as informações e me escrever um adendo. – O presidente se levantou da mesa. – A todos vocês, obrigado. Av, encontre-me no Salão Oval às seis, para discutirmos o caso com os nossos aliados. Ernie e Mel, vamos informar o ministério e os membros do Comitê de Guerra às sete. E, Paul, vejo você às nove e meia.
O presidente saiu, seguido pelo secretário de Defesa e pelo chefe do Estado-Maior. Av Lincoln caminhou até Hood.
– Meus parabéns, Paul. Estou sentindo que alguém vai dançar. – Inclinou-se para junto dele. – Só cuide para que não seja você.
Ele tinha razão. O presidente nunca dera ao Centro uma operação no exterior, e se agora estava fazendo isso era porque queria jogar duro e com decisão, se surgisse a oportunidade. Se alguma coisa falhasse, poderia sempre jogar a culpa na nova turma, fechar a agência e se safar com um mínimo de danos políticos. Depois disso, Hood poderia tentar achar um emprego barato no Centro Carter ou no Instituto Americano pela Paz, como pacifista convertido, um pecador reformado sendo exibido para diversão pública em jantares e conferências.
Av ergueu o polegar para ele na hora em que saiu e, depois de ordenar os pensamentos, Hood o seguiu até o elevador. Além da possibilidade de ser culpado por um fracasso, Hood não estava com a menor vontade de ser o mediador de uma guerra entre burocratas, enquanto falava pela televisão com todos os envolvidos, formulando uma estratégia coesa de ação com seis pessoas de prioridades muito diferentes.
Fazia parte do serviço e ele era um bom profissional, mas odiava a maneira como as pessoas colocavam o partido em primeiro lugar, a agência em segundo e o país, lá embaixo, numa longínqua terceira posição.
Mesmo assim, podia ver o lado bom da coisa, a oportunidade de simplesmente resolver a crise. E, quando pensava nisso, sua adrenalina começava a fluir. Se o presidente estava disposto a correr riscos com o Centro de Operações, Hood tinha que estar pronto para se arriscar ainda mais, de modo que o Centro adquirisse respeito internacional de uma vez por todas. Como dizia um de seus ídolos, Babe Ruth, quando é a sua hora de pegar o taco, você bate para fora do estádio; nem mais, nem menos. Mesmo que, como o Babe, isso ocorresse 60% das vezes em que tomava posição.
Treze
Terça-feira, 5:25, Base Aérea dos Fuzileiros Navais em Quântico, Virgínia
A batalha foi demorada e árdua, com corpos caindo por todos os lados, rostos se contorcendo em agonia, gritos e ordens rompendo o silêncio da manhã.
– São tão bobos – disse Melissa Squires às outras esposas ao redor da mesa de piquenique. Bateu no pager do marido. – Era de se esperar que isso fosse o suficiente para diverti-los.
– As crianças gostam – disse uma mulher, fazendo uma careta ao ver a filha cair dos ombros do pai, no meio da piscina. – Aaai... O David vai ficar de mau humor o dia inteiro. Ele e Verônica ensaiaram os movimentos desde quinze para as cinco.
As oito mulheres ficaram olhando enquanto comiam os ovos, pãezinhos e bacon que esfriavam rapidamente. Não estava mais na hora da guerra da piscina, mas sabiam que era melhor não chamar os homens enquanto não tivessem acabado. Só os deixariam irritados e, de qualquer modo, não viriam. Não com a honra deles em jogo.
Só restavam dois contendores: o tenente-coronel Charlie Squires, muito magro, e seu franzino filho Billy; e o robusto praça David George, com o filho Clark. Os meninos se olhavam nos olhos, enquanto os pais giravam devagar, cada um procurando uma abertura, esperando que um deles perdesse o equilíbrio, executasse uma manobra vergonhosamente canhestra, tremesse ou perdesse a concentração.
Lydia, esposa do sargento Grey, comentou:
– Semana passada, quando fomos visitar meus pais no Alasca, Chick e eu atolamos num banco de neve e ele se recusou a chamar um reboque. Mandou que eu pusesse o carro em ponto morto, depois foi até a traseira e o levantou. Ficou uns dois dias andando encurvado, mas jamais iria admitir que estava dolorido. Afinal, ele é um Hércules.
Da piscina veio um grito quando Clark arremeteu contra Billy. Em vez de recuar, como sempre fazia, o tenente-coronel Squires se aproximou. E, enquanto Clark se inclinava para a frente, Billy pegou-o pelo braço estendido e o puxou para baixo. O menino caiu de costas na água. O praça George ficou ali, embasbacado, enquanto seus olhos se moviam do filho para Squires. Aplausos rápidos vieram da borda da piscina, de onde as crianças derrotadas assistiam à batalha final.
– Acabou, senhor? – perguntou George a Squires. – Deus, foi mais rápido do que a primeira luta do Clay contra o Liston.
– Desculpe, Sonny – disse Squires. Pegou o filho em estado de graça.
– Quando foi que ensaiaram o último lance, senhor?
– Enquanto nos vestíamos. Faz sentido, né? O cara está esperando um recuo e, em vez disso, o outro avança. Acaba se surpreendendo.
– Acaba mesmo – resmungou George, caminhando para o lado raso da piscina, o filho indo atrás.
– Briga boa – comentou Clark com Billy, enquanto era arrastado pelo pai.
– Não fica assim – disse George, enquanto subia as escadas com a disposição e a vontade de um Gorgo. – Amanhã você melhora.
Squires saiu da piscina com ele, e seus olhos foram atraídos pelas luzes de faróis refletidos na janela de sua casa, no alojamento familiar da Base. Pegou uma toalha de cima de uma cadeira reclinável no momento em que as luzes se apagaram e viu quando uma pessoa sozinha deu a volta na casa, a silhueta se destacando contra a luz azul do horizonte. Ninguém teria chegado até ali sem passar pelo portão que separava a sua equipe da Academia do FBI, e ninguém poderia passar pelo portão sem ter falado diretamente com ele.
A não ser que fosse do Centro de Operações.
Jogando a toalha sobre os ombros e calçando as sandálias, o tenente-coronel andou depressa até a casa.
– Charlie, os ovos estão esfriando.
– Já vou, Missy. Deixe os ovos perto do George que eles vão ficar quentes.
A equipe de ataque de Squires, composta por 12 homens trabalhando em tempo integral e pelas respectivas equipes de apoio, fora criada há seis meses, mesma época da fundação do Centro de Operações. Formavam o chamado “lado negro” da agência, cuja existência era mantida em sigilo a qualquer pessoa de fora, exceto pelos que realmente tinham que saber: os chefes das demais agências militares e de espionagem, o presidente e o vice. A tarefa era simples: entrar em campo quando um ataque fosse necessário. Era uma tropa de elite com a qual se poderia contar para atacar rápido e bem. Apesar de toda a equipe de ataque pertencer às Forças Armadas e serem pagos pelas respectivas armas, trabalhavam com camisas e calças comuns de camuflagem, sem qualquer tipo de marca. Se fizessem alguma bobagem, não haveria jeito de saber quem eram... ou de colocar a culpa neles.
Squires sorriu quando Mike Rodgers contornou o canto da casa. Era bom ver o nariz curvo – quebrado quatro vezes no basquete universitário – daquele homem, a testa alta e inteligente e os olhos castanhos-claros, quase dourados.
– Espero ficar feliz por ver você – disse Squires, saudando o general de duas estrelas. Quando Rodgers retornou a saudação, os dois se cumprimentaram.
– Depende. Se estiverem entediados...
– Diet Coke tem gás? Sim, senhor, estamos prontos para entrar em ação.
– e mande o Kreb redobrar a atenção. Partiremos em cinco minutos.
Squires sabia que não devia perguntar por que só 11 homens, em vez dos Doze Sujos, nem para onde estavam indo. Pelo menos, não ao ar livre, onde os filhos e as mulheres pudessem ouvir. Conversas inocentes com parentes e amigos em telefones sem segurança poderiam ser catastróficas. Também sabia que era melhor não perguntar nada sobre a maleta preta que Rodgers estava levando, ou o porquê de um desenho costurado do que parecia ser uma hera saindo de uma parede. Quando o general quisesse falar sobre aquilo, falaria. Se quisesse.
Em vez disso, Squires respondeu “sim, senhor”, saudou-o mais uma vez e correu de volta para a mesa de piquenique. Os outros 12 homens já estavam prontos para partir. Decepções e hostilidades da competição daquela manhã foram rapidamente esquecidos.
Depois de trocar algumas palavras com Squires, 11 dos 12 homens correram às suas respectivas casas para pegar o equipamento. Nenhum parou para dar adeus à esposa ou aos filhos. Um olhar triste ou uma lágrima poderiam vir à lembrança quando fossem chamados a arriscar a vida e levá-los a vacilar. Era melhor abandoná-las friamente e fazer as pazes depois. O único homem que não fora convocado ficou sentado, emburrado, olhando o prato de papel. Aquele não era o dia do praça George.
Como todos os outros, Squires mantinha seu equipamento onde pudesse pegá-lo rapidamente e, quatro minutos depois, os homens corriam pelo campo além da cerca, rumo ao Bell Jetranger, ligado para a viagem de meia hora até a Base Aérea de Andrews.
Quatorze
Terça-feira, 19:30, Seul
O caminhão de som ficara parecido com um abacate esmagado, as laterais abertas pela força da explosão, no meio só restando escombros e cinzas.
Por mais de uma hora, os homens de Kim Hwan recolheram os destroços, em busca de alguma pista. Restos de explosivo plástico estavam presos ao que antes fora a mesa de som. Foram recolhidos e mandados para análise em laboratório. Fora isso, mais nada. Nada, a não ser o número cada vez maior de vítimas saindo das listas de feridos para entrar no número de mortos. Os homens colocados nos telhados não tinham visto nada de anormal. Das duas câmeras de segurança, uma fora destruída por um fragmento e a outra estava focada no palanque, e não nas pessoas. Câmeras de TV estavam sendo recolhidas e as fitas, analisadas, para ver se tinham gravado alguma coisa fora do comum. Hwan duvidava que isso tivesse alguma utilidade, já que todas pareciam estar voltadas na mesma direção: bem longe do caminhão. E o analista de sistemas que trabalhava junto com ele duvidava de que uma delas tivesse gravado um reflexo do caminhão numa janela, grande e inteiro o suficiente para ser ampliado e analisado.
Enquanto Hwan trabalhava, Gregory Donald ficava nas proximidades, com as costas apoiadas num poste carbonizado, o cachimbo apagado ainda preso aos dentes. Não dissera uma palavra, nem tirara os olhos do chão. Não estava mais chorando e não parecia estar em estado de choque, mas Hwan não queria nem imaginar que pensamentos se passavam naquela cabeça.
– Senhor!
Hwan ergueu os olhos, enquanto Choi U Gil, seu assistente, vinha até ele.
– Ri acha que encontrou uma coisa.
– Onde?
– Num beco ao lado do hotel Sakong. Devo chamar o diretor? Ele pediu que o avisássemos de tudo.
Hwan desceu do chassi do caminhão incendiado.
– Vamos esperar um pouco até darmos uma olhada. Ele deve estar bem ocupado. – Sem dúvida, explicando ao presidente que brecha tinha sido esquecida.
Hwan foi atrás de Choi na direção do Museu Nacional, no lado sul do palácio, e ficou surpreso de ver Donald seguindo a ambos devagar. Hwan não o esperou. Estava feliz pelo amigo estar ao menos fazendo alguma coisa, mas não queria de forma alguma pressioná-lo. Manter-se ocupado era tudo o que Hwan podia fazer para sua mente não vagar para a terrível perda que haviam sofrido.
A marca de W grande na poeira seca era característica de uma bota do Exército norte-coreano, sem dúvida alguma. O “professor” Ri já suspeitara disso e Hwan apenas confirmou.
– As marcas saem do hotel abandonado – disse o químico magro e de cabelos grisalhos.
– Já mandei uma equipe lá para dentro – avisou Choi.
– Aparentemente, os autores beberam disso aqui... – o professor apontou para a garrafa d’água no chão, quebrada e vazia – ...e depois foram até o caminhão de som.
A sujeira no beco estava seca, mas o ar continuava quente e parado e a poeira ainda não tinha assentado completamente. Hwan se ajoelhou e examinou as quatro marcas completas e duas parciais.
– Já fotografaram tudo?
Choi acenou com a cabeça.
– As pegadas e a garrafa. Agora estamos fotografando o térreo do hotel. Parece que eles passaram algum tempo lá.
– Ótimo. Mande analisar a garrafa para ver se tem impressões digitais e também se o gargalo guarda algum tipo de resíduo: saliva, comida, o que for.
O jovem assistente correu até o carro, tirou de uma caixa um saco grande de plástico e tenazes de aço e os trouxe até o local. Erguendo a garrafa com cuidado, depositou-a dentro do saco e anotou dia, hora e local numa fita branca na parte de cima do saco. Depois, tirou um formulário da caixa, preencheu-o, guardou ambos e pulou a janela onde um PM estava de guarda.
Hwan continuou a examinar a marca da bota, observando que não era mais forte na frente, o que indicava que os terroristas não estavam correndo. Procurou determinar também o desgaste das solas e se as marcas pertenciam a uma ou várias botas. Parecia haver pelo menos dois jogos de pés direitos e chamou sua atenção o fato das letras W não parecerem estar gastas. A Coreia do Norte costumava fornecer botas novas depois do inverno (quando se desgastavam mais) e não durante o verão.
– Se a garrafa for mesmo dos terroristas, não vão achar digitais.
Hwan olhou para Donald. A voz estava monótona e mal se podia ouvir. O cachimbo fora posto simplesmente no bolso do paletó e seu rosto estava totalmente branco. Mas estava ali e estava atento. Hwan ficou contente em vê-lo.
– Não. Nem é o que espero – respondeu Hwan.
– Será que é por isso que deixaram a garrafa? Porque sabiam que ela não ia levar a eles?
O professor falou:
– E o que se pode concluir.
Donald deu alguns passos em direção ao lado mais escuro do beco. Os braços caíam inertes ao longo do corpo e os ombros se encurvavam, sob toda aquela carga. Hwan nunca se sentiu tão desamparado, como quando o viu andar com tanta dor.
– Esse beco, tão perto do hotel – disse Donald. – Imagino que os pobres recolham o lixo à noite. E você iria com certeza encontrar essa garrafa nas buscas. E encontrando, também acharia a marca das botas.
– Exatamente o que eu estava pensando. Veríamos o modelo e logo concluiríamos sobre quem seriam os autores.
O professor deu de ombros:
– É possível. Mas também é possível que um praticante de cooper descuidado tenha jogado essa garrafa aí e os criminosos nem chegaram a perceber.
– Neste caso, encontraremos impressões digitais.
– Exatamente – disse o professor. – Portanto, é melhor eu ir logo ao trabalho. Vou ver se tem alguma coisa para ser examinada no hotel e depois volto ao laboratório.
Quando o franzino professor saiu, Hwan foi para o lado de Donald.
– Muito obrigado pelo que falou lá atrás – disse Donald, a voz trêmula e os olhos no chão. – Eu ouvi, mas não consegui me recompor.
– E como poderia?
– Não sei nem se agora vou conseguir. – As lágrimas corriam de seu rosto, enquanto olhava em torno de si. Respirou fundo e enxugou os olhos com as mãos. – Esse negócio, Kim... Não é o jeito deles. Eles sempre utilizaram assassinatos ou incidentes na Zona de Armistício para mandar recados.
– Eu sei. E tem mais uma coisa.
Antes que ele pudesse continuar, uma Mercedes preta, com chapa diplomática, freou bruscamente na saída do beco. Um jovem arrumado saiu do lado do motorista.
– Sr. Donald?
Donald saiu da parte escura.
– Gregory Donald sou eu.
Hwan pôs-se rapidamente a seu lado. Não sabia se haveria mais um atentado e preferiu não se arriscar.
– Há uma mensagem para o senhor na embaixada – disse o rapaz.
– De quem?
– Mandaram dizer que era de “um inimigo de Bismarck”.
Hood – disse a Hwan. – Eu já esperava por isso. Talvez ele tenha alguma informação.
Enquanto os homens se aproximavam do carro, o jovem funcionário abaixou o braço e destrancou as portas de travas elétricas.
Senhor, também me deram ordens de fazer qualquer coisa Por sua mulher. Será que ela está precisando de alguma coisa? Talvez queira vir conosco...
Donald apertou os lábios e balançou a cabeça. Então, seus joelhos cederam e ele desabou sobre a lateral do carro, levando os braços ao peito.
– Senhor!
– Ele já vai ficar bem – disse Hwan e fez sinal para o rapaz se sentar. Pôs um braço em torno da cintura do amigo e o ajudou. – Você vai ficar bem, Gregory.
Donald assentiu, enquanto se levantava.
– Vou mandar avisá-lo na Embaixada quando soubermos de alguma coisa.
Muito triste, Hwan abriu a porta e Donald entrou no carro.
– Pode me fazer um favor, Kim?
– O que você mandar.
– Soonji adorava a Embaixada e gostava muito do embaixador. Não... deixe que a levem para lá. Pelo menos, não como está. Vou telefonar para o general Savran. Será que você podia providenciar que ela... – respirou profundamente – ... fosse mandada para a base?
– Claro.
Hwan fechou a porta e o carro partiu. Logo se perdeu na confusão das buzinas dos automóveis, ônibus e caminhões. A hora do rush estava ainda pior, graças aos carros que eram obrigados a desviar das ruas em volta ao palácio.
– Deus o abençoe, Gregory – disse Hwan, depois olhou para o sol escarlate. – Não posso ficar do lado dele, Soonji; por isso, por favor, olhe por ele.
Virando-se para o outro lado, Hwan andou de volta para o beco e olhou de novo as pegadas. As sombras estavam maiores agora, à medida que o sol descia e os raios se inclinavam.
Havia, no entanto, mais uma coisa, que o incomodava mais do que a garrafa e as pegadas deixadas com tanta conveniência.
Depois de mandar o guarda postado à janela do andar térreo dizer a Choi que voltara ao escritório, Hwan correu de volta para o carro e perguntou-se o quanto Yung-Hoon, diretor da agência, estaria disposto a resolver este caso...
Quinze
Terça-feira, 5:55, Washington
Assim que entrou no carro, Hood ligou para o Centro e pediu que Stephen “Bugs” Benet, seu secretário-executivo, começasse uma contagem regressiva de 24 horas. A sugestão partira de Liz Gordon. Estudos mostravam que a maioria das pessoas trabalhava melhor com prazos fixos, algo que elas tivessem que cumprir. O relógio era uma lembrança permanente de que, apesar de ter toda uma maratona para correr, e muito o que se esforçar, havia uma hora em que chegava ao fim.
Era uma das poucas coisas em que Hood concordava com Liz.
Enquanto Bugs dizia a Hood que Donald fora encontrado e estava sendo levado para a Embaixada em Sejongno, a apenas duas quadras do palácio, o celular pessoal do diretor tocou. Hood avisou a Bugs que chegaria em 15 minutos, desligou e atendeu o outro fone.
– Paul, sou eu.
Sharon. Ouviu uma sineta ao fundo e vozes falando baixo. Ela não estava em casa.
– O que é, meu bem?
– É o Alexander...
– Ele está bem?
– Depois que você saiu, ele começou a tossir como eu nunca vi. O nebulizador não estava adiantando. Por isso, eu o trouxe para o hospital.
Hood sentiu o peito encolher.
– Os médicos deram uma injeção de epinefrina e ele está em observação. Não quero que venha aqui. Telefono assim que souber de alguma coisa.
– Você não devia fazer isso sozinha, Sharon.
– Eu sei que não estou sozinha. O que você iria fazer aqui?
– Segurar a sua mão.
– Pode segurar a mão do presidente que eu estou bem. Olhe, gostaria que você ligasse para a Harleigh e perguntasse se está tudo bem. Acho que dei o maior susto da vida dela, quando saí de casa correndo e levando o Alex.
– Prometa que vai me ligar na hora em que souber de alguma coisa.
– Prometo.
– E diga aos dois que eu os amo.
– Eu sempre faço isso.
Hood sentiu-se péssimo enquanto seguia pelo trânsito em direção à Base Aérea de Andrews, sede do Centro de Operações. Sharon já tivera que aguentar muita coisa em 17 anos de casamento, mas nada tão ruim quanto aquilo. Pôde sentir o medo em sua voz, o traço de amargura quando falou do presidente, e queria muito estar junto dela. Mas sabia que, se fosse lá, ela só se sentiria culpada por tê-lo afastado do trabalho. E se sentindo assim, ficava com raiva dela mesma, pois aquilo era a última coisa que queria.
Por mais infeliz que estivesse, não havia nada a fazer a não ser ir para o Centro. Mas pensava na ironia de tudo aquilo. Ali estava ele, chefe de uma das agências mais sofisticadas do mundo, capaz de ouvir a conversa de reféns a milhares de quilômetros de distância, ou ler um jornal de Teerã via satélite, mas sem ter nada no mundo que pudesse fazer pelo próprio filho – ou pela mulher.
As mãos ficaram úmidas e a boca ficou seca, enquanto ele saía da autoestrada e acelerava em direção à base. Não podia dar apoio à família por causa dos responsáveis pela explosão, os quais estava firmemente disposto a fazer pagar.
Dezesseis
Terça-feira, 20:00, mar do Japão
A balsa era de fabricação anterior à II Guerra Mundial, uma barca que tinha sido adaptada para transporte militar e depois voltara a servir de barca.
Enquanto a noite caía, os dois norte-coreanos se sentaram sobre dois bancos na proa, jogando damas com peças de metal, num tabuleiro imantado. As malas de dinheiro foram colocadas entre eles, uma sobre a outra, servindo de mesa.
Um vento forte começara a soprar pelo convés, cobrindo-os de gotas d’água que tamborilavam no convés do barco. A maioria dos passageiros entrou para a cabine quente, seca e iluminada. Um deles olhou em volta.
– É melhor entrar, Im – falou. Não era bom ficar sozinho. Grupos de pessoas eram um desestímulo para uma tentativa de roubo.
Com o jogo apenas interrompido, um deles começou a arrumar as coisas, enquanto o outro ficava de pé, com as mãos segurando as alças das malas.
– Cuidado para não deixar cair as peças, Yun. Eu acabaria...
Um jato vermelho esguichou sobre as malas. Yun olhou para o alto e viu uma silhueta escura atrás de seu parceiro. A ponta metálica de um estilete se projetava do pescoço de Im.
Yun abriu a boca para gritar, mas foi interrompido pela lâmina que lhe cortou a traqueia, vinda de trás. Levou a mão à garganta enquanto o sangue escorria por seus dedos e se juntava ao do companheiro. As duas poças se misturavam à espuma que vinha do mar e eram sopradas pelo vento.
Os dois assassinos pegaram as facas, um deles se inclinando sobre os mortos e o outro indo até o parapeito, na popa. Passou a ligar e a desligar uma lanterna em intervalos de dez segundos, enquanto o companheiro cortava o dedo mindinho dos dois mortos. Só Yun ainda teve forças para dar um grito embargado, quando a faca rasgou-lhe a carne.
Com a ponta do sobretudo cinza esvoaçando ao vento, o assassino jogou os dedos no mar. A assinatura de Yakuza tinha sido posta nos corpos e as autoridades passariam semanas procurando os assassinos. Quando percebessem que estavam às voltas com fantasmas, seria tarde demais.
Voltando para pegar as malas, o assassino certificou-se de que estavam bem fechadas e lançou um olhar para a cabine. Não viu nenhum rosto nas escotilhas, e mesmo que fosse o caso, a escuridão e a espuma do mar impediriam qualquer identificação. A ponte de comando era bem afastada, no alto da cabine, e a tripulação não tinha boa visão do convés. Com um pouco de sorte, ninguém viria para o deque e ninguém mais teria que morrer.
O outro ainda sinalizava com a lanterna. Quando foi se juntar a ele, já dava para ouvir o ruído distante do motor e podiam divisar o leve contorno do hidroavião, com todas as luzes desligadas, exceto as de navegação. O Buccaneer LA-4-200 se aproximou da prancha traseira e passou pela barca transformando a espuma do mar em milhares de minúsculos dardos. O assassino jogou o facho da lanterna na cabine e o piloto abriu uma portinhola na asa. Jogou um bote inflável no mar, o anel da proa preso a um cabo de aço de vários metros. O bote caiu com força na água, batendo contra o vento.
Nesse momento, houve uma movimentação na ponte de comando, quando a tripulação percebeu o avião.
– Rápido – disse o homem da lanterna ao companheiro.
Pondo as malas no chão, o homem pulou para onde estava o bote. Caiu na água, agarrou-se ao cabo de segurança, entrou no bote e Virou-se em direção à barca. Seu colega pegou uma das malas e a jogou para ele. O outro pegou e depois estendeu os braços para receber a segunda. Pegou esta também e puxou o parceiro para o bote quando ele pulou da barca.
Enquanto os tripulantes chegavam ao deque e encontravam os corpos, o piloto puxava o bote para o hidroavião. Pouco depois, os homens já estavam a bordo, as luzes já tinham se acendido, e o dinheiro e os homens já voavam em direção ao norte. Só quando deixaram o campo de visão da barca é que eles rumaram para o oeste – não para o Japão e a Yakuza, mas para a Coreia do Norte.
Dezessete
Terça-feira, 6:02, Centro de Operações
O pessoal dos turnos da noite e da manhã no Centro de Operações se encontrava às seis, hora em que Paul Hood e Mike Rodgers assumiam o lugar de Curt Hardaway e Bill Abram. Os regulamentos proibiam Hardaway e Abram de continuarem no comando depois de terminado o turno. As melhores decisões eram tomadas por pessoas com a cuca fresca e, nas poucas vezes em que nem Hood, nem Rodgers estavam presentes, as tarefas eram distribuídas entre diferentes membros da equipe principal diurna.
A assessora política Martha Mackall tinha chegado alguns minutos antes e, depois de passar o cartão pelo controle e cumprimentar as sentinelas armadas e formais por trás do vidro Lexan, tomou o lugar de seu correspondente noturno, Bob Sodaro. Sodaro fez-lhe um resumo de tudo o que acontecera desde as quatro e onze da manhã, o exato instante em que o Centro fora envolvido na crise da Coreia.
Com passos firmes e uma postura perfeitamente ereta, aquela elegante mulher de 49 anos, filha do lendário cantor de soul Mack Mackall, entrou no núcleo do Centro – o “presídio”, com seu labirinto de saletas e funcionários correndo de um lado para o outro. Como o nome de Hood não estava na lista do computador, conforme verificara no andar de cima (o térreo), sabia que iria ficar em seu lugar, até que ele chegasse. Saindo do presídio e indo para as salas de ação que circundavam o núcleo do Centro, ouviu chamarem seu nome no interfone: ligação da Coreia para Hood. Deixou passar um momento depois retirou o fone da parede e avisou à telefonista que iria atender a chamada para o diretor na sala dele.
A sala ficava a poucos metros dali, no canto sudoeste. Bem ao lado do Tanque, era a maior sala do prédio. Entretanto, Hood não a escolhera por esse motivo, nem pela vista, já que não existiam janelas no Centro. O problema é que ninguém queria aquela sala. O Tanque era cercado por paredes de ondas eletromagnéticas que geravam estática para desnortear qualquer um que quisesse grampear as ligações. Alguns membros mais jovens da equipe nutriam uma certa preocupação de que aquelas ondas pudessem afetar-lhes o sistema reprodutivo. Hood declarou que, se dependesse do uso que fazia do seu próprio “equipamento”, podia muito bem ficar com aquela sala.
Ele não sabia, mas Liz colocara aquela piada em seu perfil psicológico: frustrações sexuais podem prejudicar sua eficiência no cargo.
Martha teclou seu código de acesso na porta da sala do diretor.
Coitado do Papa Paul, pensou, lembrando-se do último apelido que Ann Farris havia lhe dado. Martha se perguntava se o diretor sabia que, na primeira vez em que brigasse com a sua sensual assessora de imprensa, poderia aprontar muito mais do que simplesmente enchê-lo de apelidos. O que lhe daria um motivo para trocar de emprego.
Um clique fez a porta se abrir e Martha entrou na sala forrada de madeira. Aboletou-se num canto da mesa e pegou um dos dois telefones em cima dela, o garantido: a identificação LED no canto inferior do aparelho mostrava 07-029-77, revelando que o interlocutor estava na Embaixada americana em Seul. O prefixo “1”, em vez de “0”, teria indicado a embaixadora ao telefone. Uma terceira linha, para reuniões telefônicas, também estava integrada ao sistema.
Antes de falar, tratou de ligar o gravador digital que transcrevia a voz em palavras escritas com incrível rapidez e exatidão. Uma transcrição quase simultânea da conversa aparecia num monitor ao lado do telefone.
– O diretor Hood não está. É Martha Mackall falando.
Alô, Martha. Aqui é Gregory Donald.
No início, não reconhecera a voz baixa e devagar do outro lado da linha.
– Sim, senhor. O diretor Hood ainda não chegou, mas está muito ansioso para falar com o senhor.
Houve um breve silêncio.
– Eu... estive lá, obviamente. Depois, eu e o Kim examinamos o local da explosão.
– Kim...?
– Hwan. Vice-diretor da KCIA.
– E encontraram alguma coisa?
– Uma garrafa de água mineral. Algumas marcas de bota, do tipo militar da Coreia do Norte. – A voz falhou. – Perdão.
Seguiu-se um silêncio bem mais longo.
– O senhor está bem? O senhor não está ferido... ou está?
– Eu caí, mas não quebrei nada. O problema foi com a minha mulher... Ela é que ficou ferida.
– Nada grave, espero.
Sua voz falhou de novo quando falou:
– Eles a mataram, Martha.
Martha levou a mão à boca, num reflexo. Só tinha visto Soonji uma vez, na primeira festa de Natal do Centro, mas ficara impressionada com o seu charme e sua rapidez de raciocínio.
– Lamento muito, sr. Donald. Talvez nós possamos conversar mais tarde...
– Não. Eles vão levá-la à Base Aérea do Exército e eu vou para lá quando acabar aqui. Prefiro falar agora.
– Compreendo.
Donald precisou de um momento para se recuperar, depois prosseguiu, a voz mais forte.
– Havia... pegadas num beco, feitas por uma ou mais botas do Exército da Coreia do Norte. Mas nem eu, nem Kim acreditamos que os norte-coreanos as estivessem usando. Ou que, se fosse o caso, estivessem agindo por conta do governo.
– Porquê?
– As pistas eram óbvias demais. Não se tomou o menor cuidado de encobri-las. Um profissional jamais faria isso. E os norte-coreanos nunca desfecharam um ataque frontal como este.
Enquanto ele falava, Hood entrou na sala. Martha tocou um botão no monitor, voltou a transcrição algumas linhas e apontou para Hood.
Depois de ler o trecho sobre a morte de Soonji, ele acedeu solenemente, depois sentou-se calado atrás da mesa e usou dois dedos para coçar a testa.
Então o senhor acredita que alguém esteja querendo fazer esse ataque passar por uma ação da Coreia do Norte – falou Martha. – Eles negaram ter qualquer participação.
– Estou dizendo que é uma possibilidade a ser considerada antes de sairmos disparando flechas contra Pyongyang. Talvez, pela primeira vez, eles estejam falando a verdade.
– Obrigado. Tem... alguma coisa que possamos fazer pelo senhor?
– Eu conheço o general Norbom na Base Aérea, e a embaixadora Hall prometeu fazer... o que quer que estivesse ao seu alcance.
– Perfeitamente. Mas se precisar de ajuda...
– Eu ligo. – Sua voz ficou mais forte quando falou: – Mande um abraço ao Paul e diga a ele... diga a ele que, independentemente de como o Centro vá se envolver nesse assunto, eu quero a minha parte. Quero achar os selvagens que fizeram isso.
– Direi a ele – falou, enquanto Donald desligava.
Assim que veio o sinal de discar, o computador arquivou a conversa, anotou a hora e ficou livre para o próximo telefonema.
Martha pôs o fone no gancho e saiu de cima da mesa.
– Devo ligar para a embaixadora e pedir que o Donald receba tudo o que precisar?
Hood assentiu.
– Você está com olheiras. Dormiu mal?
– Alex teve um ataque sério de asma. Está no hospital.
– Oooh, lamento muito. – Deu um passo para à frente. – Quer ir visitá-lo? Eu posso cuidar das coisas aqui.
– Não. O presidente quer que preparemos um Estudo de Estado-Maior sobre esse caso e eu preciso que você me arranje os últimos dados sobre as relações financeiras da Coreia do Norte com o Japão, com a China e com a Rússia, oficiais e clandestinas. Se tivermos uma cnse de verdade, tenho o pressentimento de que ele vá querer uma solução armada, mas vamos ver o que se pode fazer só com sanções.
– É para já. E não se preocupe com o Alex. Ele vai ficar bem. Esses garotos são fortes.
– Precisam ser para nos aguentar – concordou Hood, esticando a mão para pegar o interfone. Apertando o ramal de Bugs, pediu-lhe que mandasse Liz Gordon se apresentar ao Tanque.
Enquanto saía, Martha se perguntava se não fora direta demais ao se oferecer para o lugar de Hood. Sentiu-se arrependida pela maneira como tentara aproveitar a doença de Alexander para incrementar seu currículo e tomou nota mentalmente para mandar sua secretária lhe enviar alguns balões. Mas enquanto Ann Farris só pensava no diretor, Martha só pensava na direção. Gostava de Hood e o respeitava, mas não queria ser assessora política do Centro de Operações para sempre. Era fluente em dez línguas e entendia bem de economia mundial. Valia mais do que aquele cargo. Co-administrar uma crise internacional daquelas proporções seria um acréscimo e tanto em seu currículo, colocando-a na linha de frente para uma promoção no Centro ou, com um pouquinho de sorte, uma transferência para o Departamento de Estado.
Sempre há um amanhã, disse a si mesma, enquanto caminhava pelo estreito corredor entre o presídio e as salas de executivos, passando por Liz Gordon, que parecia ter a cabeça a ponto de explodir e estar procurando desesperadamente um lugar para descarregar...
Dezoito
Terça-feira, 6:03, Base Aérea de Andrews
– Você pouco se importa se o chefe explodir com você.
O tenente-coronel Squires e Mike Rodgers corriam pelo campo. O Jetranger pousara há menos de um minuto e já estava de novo no céu, rumando para Quantico. Os dois oficiais puxavam a fila da equipe de ataque em direção ao C-141B, com os motores ligados na pista de decolagem. Além do equipamento, Squires levava um computador portátil Toshiba Satellite, com uma impressora a laser acoplada ao lado, que incluía planos de voo para 237 localidades diferentes, além de mapas detalhados e eventuais perfis de operações.
– Muito bem, e por que o Hood explodiria comigo? – indagou Rodgers. – Eu sou o tipo do cara que... ouço um bocado... Sempre ofereço opiniões educadamente e com o maior respeito...
– Com o seu perdão, senhor, mas o Kreb é do seu tamanho e o senhor pediu que ele trouxesse uma roupa extra. Todos os nossos manuais foram feitos para esquadrões de 12 homens. Você tomou o lugar do George, não tomou?
– Tomei.
E aposto um mês de salário como o Hood não foi consultado.
Por que incomodá-lo com detalhes? Já tem muito em que pensar.
Bem, senhor... já temos dois motivos para ele explodir. A tensão e uma peça fora de lugar. No caso, o senhor... aqui.
Rodgers deu de ombros.
– É claro que ele não vai gostar. Mas não vai se amolar por muito tempo. Tem uma equipe perfeitamente capacitada no Centro e, pombas, de qualquer jeito nós raramente concordamos em alguma coisa. Ele não vai sentir a minha falta.
– O que nos leva a um outro ponto, senhor. Posso falar francamente?
– Pode.
– Eu também tenho uma equipe perfeitamente capacitada aqui. O senhor é que vai dar as ordens, ou simplesmente vai ficar no lugar do praça George?
– Não vou usar minhas estrelas, Charlie. O comando é seu e eu vou fazer a tarefa que me mandar fazer. Você e o seu pequeno laptop têm 12 horas para me energizar.
– Quer dizer que esse passeio é a sua maneira de começar bem a semana. Um jeito de sair de trás da mesa.
– Mais ou menos isso – disse Rodgers, quando chegaram ao enorme e negro avião de transporte. – Você sabe como são essas coisas, Charlie. Se não usar o equipamento, enferruja.
Squires riu.
– O senhor? Enferrujado? Não acredito. Esse tipo de ação já está incutido na família Rodgers desde... a Guerra Hispano-Americana.
– Exatamente – respondeu Rodger. – O capitão Malachai T. Rodgers era meu tataravô.
Os soldados pararam nos dois lados do avião e Squires gritou:
– Entrando! Entrando! Entrando! – Os homens entraram sem perder o passo.
O coração de Rodgers se encheu de emoção quando os homens entraram no avião, batendo com o mesmo orgulho que sempre sentia quando via soldados americanos partindo numa missão. Eram jovens, tinham medo e sempre passavam por vários tons de verde, mas era uma imagem que nunca deixava de mexer com ele. Tinha sido assim na primeira vez em que fora mandado ao Vietnã e, depois de obter um Ph.D. em História, na Universidade de Temple, quando estava lotado em Forte Dix, voltara a comandar batalhões na Guerra do Golfo.
Tennyson escrevera que a Lady Godiva era uma imagem capaz de rejuvenescer um velho, e as mulheres causavam-lhe essa sensação. Mas aquele tipo de cena também o rejuvenescia. Vinte e seis anos passaram-se em menos de um minuto, e ele se sentia outra vez com 19 anos quando seguiu o último homem da equipe para dentro do avião. Feito isto, Squires levantou a porta traseira.
Apesar do comentário ter sido um tanto inconveniente, Rodgers sabia que o tenente-coronel tinha razão. Hood certamente não aprovaria o seu embarque. Mesmo com toda a inteligência e sua incrível capacidade de intermediação, Hood não gostava que nada escapasse ao seu controle. E, ao se engajar numa missão de campo, do outro lado do mundo, Rodgers ficaria efetivamente fora de controle. Mas, acima de tudo, Hood jogava para o grupo: se fosse preciso que a equipe de ataque entrasse em ação e executasse uma missão clandestina, o ego do diretor não impediria o grupo – e Rodgers – de executar a missão e ficar com a glória... ou a culpa.
Tão logo entraram no avião, os homens tomaram assento nos dois lados da aeronave vazia, enquanto o pessoal de terra terminava de preparar o portentoso avião. O Lockheed C-141B Starlifter surgira pela primeira vez em 1982, com suas asas de 48,74m no topo da fuselagem, como o herdeiro da glória do C-141, de 1964. Este avião ficara famoso por anos e anos de viagens sem escalas para o Vietnã, um desempenho que fora um dos muitos benefícios não-proclamados da guerra. Nenhum outro Exército do mundo contava com um transporte de tropas tão confiável, o que dava grande vantagem aos Estados Unidos.
Com 51,3m de comprimento, o C-141B – 14,13m a mais que seu antecessor – era capaz de acomodar 154 combatentes, 123 pára-quedistas equipados, 80 macas e 16 feridos sentados, ou o equivalente em carga. O equipamento de reabastecimento nos fundos do avião aumentava em 50% a autonomia normal de 6.565 quilômetros – ou mais, se estivesse transportando, como agora, menos que a carga paga total de 32 toneladas. O avião podia voar sem problemas até o Havaí, onde se encontraria no ar com um avião-tanque KC-135, que faria o reabastecimento. De lá, bastava uma simples viagem até o Japão e, depois de uma rápida meia hora de helicóptero, chegariam à Coreia do Norte.
Enquanto a tripulação terminava o check-list para a partida, a equipe de ataque repassava o próprio inventário. Além do uniforme (roupa camuflada sem marcações, faca de vinte centímetros, pistola automática Beretta 92F, de 9 mm, igualmente sem marcações), cada homem tinha a responsabilidade de trazer as coisas de que a equipe iria precisar, desde barras de chocolate e sanduíches de presunto em caixas de papelão, até telefones de campo e o hiperimportante rádio TAC SAT, de antena parabólica, que se desdobra e forma um link com o satélite.
Deixando os soldados para trás, Squires e Rodgers caminharam até a cabine de voo seguidos pelo sargento Chick Grey. A equipe de ataque não tinha nenhuma necessidade especial para o voo, mas o sargento tinha a incumbência de saber se a tripulação não teria alguma recomendação para fazer aos homens, desde distribuição de peso (que não era problema nessa missão, já que a cabine estava quase toda livre) até o uso de equipamentos eletrônicos.
– Quer dizer uma palavrinha aos homens? – perguntou Squires a Rodgers... com um quê de hostilidade, pensou o general. Ou talvez só estivesse gritando para se fazer ouvir sobre o som das quatro turbinas Pratt & Whitney TF33-P7, de 21 mil libras.
– Charlie, eu já lhe disse. Você é o dono da bola. Só estou aqui para jogar.
Squires sorriu levemente, enquanto desciam pelo avião quase vazio até a porta aberta da cabine de voo, onde se apresentaram ao piloto, co-piloto, primeiro-piloto, navegador e oficial de comunicações.
– Capitão Harryhausen? – repetiu sargento Grey, enquanto o tenente-coronel ligava o computador e o navegador espiava sobre seu ombro. – O senhor, por acaso, é o mesmo capitão Harryhausen que pilotou um DC-10 da United Airlines para o Alasca, semana passada?
– Sim. Exatamente o mesmo, do Corpo de Reserva da Força Aérea Americana.
Um sorriso se acendeu no rosto roliço do sargento.
– Acredite se quiser, eu e a minha família estávamos naquele avião, senhor. Quais seriam as probabilidades disso acontecer?
– Muitas, sargento – disse o capitão. – Fiz a rota de Seattle a Nome por sete meses. Agora requisitei essa rota aqui para que eu finalmente pudesse ir a algum lugar com bastante sol e sem gelo, a não ser chá gelado.
Enquanto o capitão dizia ao sargento Grey o que ele já sabia – que os homens não deviam ligar os discmans e game boys até que ele avisasse – , Squires tirou o fio do laptop, inseriu-o no painel de controle do navegador, apertou um botão no teclado e despejou as informações no computador de navegação do C-141B. O procedimento durou seis segundos. Antes mesmo de fechar o Toshiba, o computador do avião já começava a adaptar o plano de voo aos boletins de meteorologia, enviados a cada 15 minutos das bases americanas pelo caminho.
Squires olhou para o capitão e deu um tapinha no computador.
– Eu ficaria muito agradecido se o senhor mandasse me avisar o momento em que pudermos ligar isso outra vez.
O capitão aquiesceu e bateu continência para o tenente-coronel.
Cinco minutos depois, taxiavam pela pista e, em mais dois minutos, já se afastavam do sol nascente, rumo ao sudoeste.
Enquanto se sentava sob as lâmpadas que mexiam na cabine enorme e quase vazia, Rodgers se viu, contra a vontade, pensando no lado negro do que estava fazendo. O Centro de Operações só tinha seis meses de funcionamento, com um modesto orçamento de vinte milhões de dólares por ano desviado das contas da CIA e do Departamento de Defesa. Oficialmente, não existia, e seria fácil para o presidente acabar com aquilo, se algum dia estragassem uma missão de peso. Lawrence ficara satisfeito, para não dizer impressionado, com a maneira como tinham resolvido a primeira missão – achar e desmontar uma bomba a bordo do ônibus espacial Atlantis. Matt Stoll, o gênio da tecnologia da equipe, tinha vindo bem a calhar – para grande orgulho e frustração de Hood, que nutria uma enorme desconfiança por qualquer tipo de tecnologia. Talvez porque seu filho passasse o tempo todo lhe aplicando surras no Nintendo.
Mas o presidente ficara furioso com o fato de dois reféns terem sido feridos a tiros na Filadélfia – mesmo que as balas tenham vindo da própria polícia local, que os tomara por terroristas. O presidente vira aquilo como uma falha do Centro em controlar inteiramente a situação. E estava certo.
Agora tinham uma nova missão, embora ainda não se soubesse como atuariam. Teriam que esperar as ordens de Hood a respeito. Mas de uma coisa ele sabia: se a equipe de ataque se desviasse um só passo das ordens recebidas, com o número 2 do Centro presente, a agência se desintegraria tão depressa que Hood nem teria tempo de se esquentar.
Estalando os dedos, Rodgers lembrou-se das palavras célebres de Alan B. Shepard, astronauta da nave Mercúrio, enquanto esperava ser lançado para o espaço: “Querido Deus, não permita que eu estrague tudo.”
Dezenove
Terça-feira, 20:19, Seul
A base americana em Seul era uma fonte de irritação para muitos moradores locais.
Ocupando vinte acres de uma região nobre no coração da cidade, alojava dois mil combatentes em quatro acres, enquanto outros dois serviam de depósito para material bélico e equipamento em geral. Os outros 14 acres se destinavam à recreação das tropas: reembolsáveis, dois cinemas exibindo filmes inéditos e uma quantidade de salas de boliche maior do que a de muitas grandes cidades americanas. Com o grosso do efetivo militar cinquenta quilômetros ao norte, na Zona de Armistício, onde um milhão de soldados praticamente se espremiam lado a lado, a base de Seul era, na melhor das hipóteses, um ponto de apoio modesto. Seu papel era em parte político, em parte simbólico: ilustrava a longa amizade com a República da, Coreia e fornecia uma base de onde se poderia vigiar o Japão. Um estudo de longo prazo organizado pelo Departamento de Defesa mostrava que a remilitarização do Japão se tornaria inevitável até o ano 2010. Se os Estados Unidos perdessem as bases que ali possuíam, a de Seul se tornaria a mais importante na região da Ásia e do Pacífico.
Mas os sul-coreanos estavam mais preocupados em manter boas relações comerciais com o Japão e muitos pensavam que hotéis e lojas de luxo naquela região seriam bem mais úteis do que uma base militar.
O major Kim Lee, da Coreia do Sul, não se incluía entre os que queriam que o terreno fosse devolvido ao país. Patriota cujo falecido pai fora general de alta patente durante a guerra, e cuja mãe fora executada como espiã, Kim se sentiria feliz de ver mais tropas americanas na República da Coreia, mais bases e pistas de pouso entre a capital e a Zona de Armistício. Suspeitava de certas concessões feitas pela Coreia do Norte nos últimos quatro meses – especialmente sua disposição repentina de permitir inspeções por parte da Agência Internacional de Energia Atômica e sua vontade de assinar o Tratado de Não-proliferação de Armas Nucleares. Em 1992, permitiram a inspeção de seis reatores nucleares e depois ameaçaram romper o acordo de não-proliferação, quando a AIEA pediu para ver também os depósitos de lixo nuclear. Os inspetores supunham que a República Democrática Popular da Coreia acumulara pelo menos noventa gramas de plutônio através do reprocessamento de combustível nuclear irradiado, com a finalidade de usá-los na produção de armas. Para isso, a Coreia do Norte utilizava um pequeno reator térmico, moderado a grafite, de 25 megawatts.
A República Democrática negava o fato, salientando que os Estados Unidos não precisavam que a AIEA lhes dissesse se tinham ou não executado testes com armas atômicas. Os Estados Unidos argumentaram que não era preciso conduzir tais testes para determinar se uma cápsula já havia sido construída. Acusações e negações eram atiradas de um lado para o outro, enquanto a Coreia do Norte suspendia a sua retirada, mas a animosidade se estendeu por anos a fio.
E agora chegava ao fim. A Coreia do Norte acabara de surpreender o mundo concordando em abrir sua unidade de reprocessamento em Yongbyon às “inspeções especiais” há muito requisitadas, mas enquanto a Rússia, a China e a Europa recebiam a concessão como um progresso efetivo, muita gente em Washington e Seul via as coisas de outra maneira: que o Norte tinha terminado as suas pesquisas nucleares em Yongbyon e simplesmente erguido um outro “quartinho quente” forrado de chumbo num outro lugar – praticamente em qualquer lugar. Como a fábrica de leite de Saddam Hussein, que os americanos bombardearam na Guerra do Golfo, a Coreia do Norte provavelmente a teria instalado sob uma escola ou uma igreja. Os Petores da AIEA ficariam felicíssimos de não encontrar nada e não insistiriam no assunto. Que injustiça se insistissem em fazer novas “inspeções especiais”, justo agora que a Coreia do Norte tinha atendido o pedido original.
O major Lee pouco se importava em macular os sentimentos dos vizinhos do norte, nem com os altos elogios e aplausos vindos de Moscou, Beijing e Paris, logo após Pyongyang ter feito o que chamaram de “sua grande concessão à paz e tranquilidade mundial”. Não se podia confiar nos norte-coreanos e ele sentiu uma satisfação mórbida com a explosão no palácio: se o mundo ainda não tinha entendido as coisas antes daquela tarde, agora já sabia como elas eram.
A pergunta que o major Lee e outros oficiais em Seul faziam era como o governo iria responder. Apontariam um dedo e condenariam o terrorismo e os Estados Unidos se prontificariam a mandar mais tropas para a região, mas provavelmente não passaria disso.
Lee queria mais.
Após preencher a ordem de requisição no centro de comando sul-coreano, setor norte da base, o major e dois oficiais de baixa patente dirigiram-se ao almoxarifado americano, enquanto um terceiro oficial ia pegar um caminhão. Depois de passarem por dois postos de controle, onde verificaram suas identidades e lhes pediram a senha do dia, chegaram ao DMP – Depósito de Materiais Perigosos. O depósito era forrado de borracha, tinha paredes de 45cm de espessura e uma porta que era aberta por um sistema duplo de chaves. Dentro do galpão clandestino e sem que a maioria dos moradores da base soubesse, os americanos guardavam reagentes para a confecção de armas químicas: se os habitantes de Seul já não gostavam dos cinemas e das salas de boliche, ficariam totalmente ensandecidos se soubessem das armas químicas. Mas sabia-se que o norte possuía aquelas armas e, no caso de um confronto, a política dos EUA e da Coreia do Sul era a de não bancar o perdedor que jogava limpo.
A requisição do major estava marcada de “Confidencial” e só foi mostrada ao oficial encarregado do DMP Sentado a uma mesa na entrada do depósito, o major Charlton Carter coçou o queixo, enquanto lia o pedido de quatro tambores de um quarto de tabun. O major Lee ficou observando o oficial, com as mãos para trás e os ajudantes-de-ordens a um passo de cada lado.
– Confesso que estou surpreso, major Lee.
Lee ficou tenso.
– Sobre o quê?
– Sabe que nos cinco anos que estou aqui, esse é o primeiro pedido que eu recebo?
– Mas está tudo em ordem...
– Perfeitamente. E eu suponho que não deveria ter me surpreendido. Depois da ocorrência de hoje, ninguém pode ser pego desprevenido.
– Assim é que se fala.
O major Carter leu o pedido:
– Há um estado de prontidão na parte sudoeste da Zona de Armistício. – Sacudiu a cabeça. – E eu que pensava que as relações estivessem melhorando.
– Aparentemente, isso é o que o Norte queria que pensássemos. Mas temos indícios de que estão tirando os tambores químicos que tinham enterrado ali.
– É mesmo? Que merda! E esses tambores de um quarto são o suficiente?
– Se bem utilizados, sim. Não é preciso afogar o inimigo com isto.
– Tem razão. – O major Carter se levantou e coçou a nuca. – Espero que o senhor esteja preparado para lidar com o tabun. No tambor, ele não é exatamente volátil.
– Mas é fácil de dispersar na forma de spray ou de vapor, é quase inodoro e tem efeito rápido quando absorvido pela pele e mais ainda quando inalado. Sim, major Carter, tenho diploma de Grau Um na turma do coronel Orlando, de 1993.
– E o senhor tem uma dessas? – bateu no peito.
Lee abriu um botão sob a gravata, e tirou uma chave de sob a camiseta.
Carter assentiu. Os homens retiraram, ao mesmo tempo, as correntes dos pescoços e caminharam até o depósito. As fechaduras ficavam em lados opostos, de modo que ninguém poderia alcançá-las ao mesmo tempo. Quando se inseriam e giravam-se as chaves, a porta imergia no chão até os trinta centímetros da parte de cima ficarem do de fora. Esse obstáculo fora preparado de propósito para servir como quebra-molas e evitar que os soldados corressem com os tambores e causassem um acidente.
Após recolocar a chave no pescoço, o major Carter voltou à mesa para pegar um formulário de entrega, enquanto o major Lee supervisionava o carregamento cuidadoso de dois tambores laranja, de sessenta centímetros de altura, num carrinho. Esses carrinhos, desenhados especificamente para carregarem contêineres de todos os tamanhos, ficavam pendurados numa prateleira na parede dos fundos. Se algum dia o inimigo conseguisse passar da segurança e ir tão longe, talvez não estivessem cientes de que os carrinhos contivessem um dispositivo que fazia soar um alarme quando levados a mais de duzentos metros do DMP.
Os tambores foram amarrados nos carrinhos e levados a um caminhão que esperava do lado de fora. Enquanto eram carregados, uma sentinela armada do depósito montava guarda, postando-se atrás do motorista coreano toda vez que Lee e seus ajudantes iam buscar mais um tambor.
Quando terminaram, Lee voltou ao depósito para assinar o formulário de entrega.
Carter deu uma cópia para Lee.
– Sabe que tem que levar isso até a sala do general Norbom para ele selar. Senão, não vai passar do portão.
– Sei. Obrigado.
– Desejo-lhe boa sorte – disse, estendendo a mão para Lee.
– Precisamos de homens como o senhor.
– Como o senhor também – respondeu, secamente.
Vinte
Terça-feira, 6:25, Centro de Operações
Paul Hood e Liz Gordon chegaram ao Tanque ao mesmo tempo. Hood a conduziu para dentro, depois entrou. A porta pesada era operada por um botão na lateral da grande mesa oval de reuniões. Uma vez acomodado, Hood apertou o botão.
A pequena sala era iluminada por lâmpadas fluorescentes, penduradas em cima da mesa de reunião. Na parede oposta ao lugar onde Hood estava sentado, o relógio digital piscava incessantemente a marcha da contagem regressiva.
As paredes, o chão, a porta e o teto do Tanque eram todos revestidos de um material à prova de som chamado Acoustix. Atrás das placas cinza e pretas ficavam várias camadas de cortiça, trinta centímetros de concreto e mais Acoustix. No meio do concreto, por todos os seis lados da sala, dois circuitos de válvulas eletrônicas geravam oscilações acústicas. Eletronicamente, nada podia entrar ou sair daquela sala sem ficar inteiramente distorcido. Se um aparelho de escuta de algum jeito conseguisse captar uma conversa de dentro, a infindável variedade de modulações tornaria impossível a decodificação de conversas.
Hood sentou-se à cabeceira da mesa e Liz, à sua esquerda. Diminuiu o brilho do monitor do lado de um teclado de computador. Uma minúscula câmera de fibra óptica ficava acoplada do lado de cima monitor e um dispositivo semelhante existia na cadeira de Mike Rodgers, do outro lado da mesa.
Liz abriu seu bloco amarelo.
– Olhe, Paul. Eu sei o que você vai dizer, mas eu não estou errada. Não é coisa deles.
Hood olhou para os olhos cinzentos da psicóloga. Os cabelos castanhos, pouco acima dos ombros, eram puxados por uma trançadeira preta. Uma marca acinzentada na lapela do blazer vermelho era resíduo de uma cinza esfregada descuidadamente, de um dos Marlboros que ela fumava em sua sala sem parar.
– Eu não ia dizer que você errou – retrucou Hood, calmamente.
– O que eu preciso saber é o quanto você tem certeza. O presidente me pôs no comando da Força-tarefa Coreana e eu não quero contar para ele que o seu colega norte-coreano está falando de paz, enquanto nos incita a cruzar a Zona de Armistício.
– Oitenta e nove por cento – disse ela, com voz rascante. – Se as informações de Bob Herbert estiverem certas, e é isso o que consideramos, nosso nível de confiança passa a ser de noventa e dois por cento. – Tirou um chiclete Wrigley do bolso e retirou o papel. – O presidente da Coreia do Norte não quer uma guerra. O fato é que ele está feliz com a melhoria do nível de vida da classe baixa da populaj ção e sabe que o único jeito de se manter no poder é fazer com que essa classe continue satisfeita. E a melhor maneira de isso acontecer é acabar com o isolamento que se impuseram. E você já sabe o que Herbert pensa.
Hood, de fato, sabia. Seu assessor de informações acreditava que, se os generais da RDPC realmente se opusessem à política do presidente, já o teriam derrubado. A morte repentina do líder Kim Il Sung em 1994, depois de muitos anos no poder, deixou um vácuo bastante grande, que eles podiam ter ocupado se não aprovassem o que estava acontecendo.
Liz dobrou o chiclete na boca.
– Eu sei que você não acha a divisão de psicologia muito científica, e ficaria contente se ela acabasse. Tudo bem. Não contamos que a polícia da Filadélfia fosse reagir com tanta força. Mas já fazemos análises sobre a Coreia do Norte há muitos anos e tenho certeza de que, desta vez, estamos certos!
O monitor à sua esquerda emitiu um bip. Hood olhou para a mensagem eletrônica vinda de Bugs Benet: os demais membros da Força-tarefa estavam prontos para a videoconferência. Hood apertou a tecla Alt para aquiescer, depois olhou para Liz.
– Acredito em primeiras impressões, não em psicologia. Mas nunca me encontrei com um líder da Coreia do Norte, por isso tenho que confiar em você. O que eu quero é o seguinte.
Liz retirou a tampa da caneta e começou a escrever.
– Quero que reavalie as informações e me prepare um perfil atualizado dos líderes norte-coreanos, levando em consideração o seguinte: mesmo que não tenham sido os autores do atentado, como reagirão a uma manobra de Defcon 5 da nossa parte, a uma possível retaliação sul-coreana em Pyongyang e se um dos generais da Coreia do Norte é suficientemente doido para ter permitido uma coisa dessas sem o consentimento do presidente. Também quero que verifique outra vez aquele estudo que dei ao pessoal do EXGUE sobre a China. Você disse que os chineses não gostariam de se envolver numa guerra na península, mas que alguns oficiais graduados poderiam desejar isso. Escreva quem e por que e mande uma cópia para o embaixador Rachlin em Beijing, para ele fazer qualquer alteração que julgar necessária.
Depois que acabaram – indicado, como sempre, por um profundo suspiro do diretor, do qual talvez ele nem se desse conta – , Liz se levantou e Hood apertou a campainha para lhe abrir a porta. Antes que se fechasse, Darrell McCaskey, responsável pela ligação do Centro com o FBI e a Interpol, entrou. Hood cumprimentou com a cabeça o pequeno agente do FBI, ativo e de cabelos prematuramente grisalhos, e, quando McCaskey sentou, apertou a tecla Control no teclado. Com isso, o monitor foi dividido em seis compartimentos iguais, três na horizontal e dois na vertical. Cinco eram imagens ao vivo das pessoas que participaram da reunião da manhã. A sexta era Bugs Benet, que controlaria a minuta da reunião. Embaixo havia uma barra preta para recados. Se Hood tivesse que receber uma atualização sobre o que estava ocorrendo na Coreia, a Sala de Situação do Centro de Operações enviaria uma mensagem curta correndo na tela.
Hood não entendia exatamente por que era preciso ver as pessoas com quem falava, mas toda a alta tecnologia à disposição era usada, ainda que irrelevante. Tudo aquilo lembrava-lhe a abertura da série de TV The Brady Bunch.
O áudio das imagens era controlado pelas teclas de função e antes de ligar a dos outros, apertou F6 para falar com Bugs.
– Mike Rodgers ainda não chegou?
– Ainda não. Mas a equipe já partiu, por isso ele deve estar chegando.
– Mande ele aqui assim que chegar. O Herbert tem alguma novidade?
– Negativo também. Nossa espionagem na Coreia do Norte ficou tão surpresa quanto nós com os acontecimentos. O Herbert está em contato com a KCIA, e assim que soubermos de alguma coisa eu aviso.
Hood agradeceu e dirigiu sua atenção aos rostos dos cinco colegas, enquanto apertava as teclas de F1 a F5.
– Todos estão me ouvindo?
Cinco rostos indicaram que sim.
– Ótimo. Cavalheiros, eu tenho a impressão, me corrijam se eu estiver errado, de que o presidente quer agir com decisão nessa crise.
– E sair vitorioso – completou a pequena imagem de Av Lincoln.
– E sair vitorioso. O que significa que a nossa margem de erro é mínima. Steve, você tem as políticas estabelecidas.
O assessor de Segurança Nacional virou-se levemente para ver um outro monitor em sua sala:
– Nossa política para a península se pauta, é claro, pelo tratado com a Coreia do Sul. Nesse espectro, os compromissos são os seguintes: trabalhar pela estabilidade política de ambos os lados; acabar com as armas nucleares da Coreia do Norte e promover o Acordo de Não-proliferação de Armas Nucleares; manter um diálogo Norte/Sul; continuar com a tradicional consulta que fazemos ao Japão e à China; assumir um envolvimento próximo e imediato em qualquer iniciativa de uma das partes; e assegurar que nenhum outro país exerça um papel mais ativo na questão do que os Estados Unidos.
– Resumindo – disse o secretário de Estado – , estamos nisso até o pescoço.
Hood gastou um instante olhando para todos os rostos. Não precisava perguntar se alguém tinha uma coisa a dizer. Se quisessem falar, falariam.
– Passemos, então, à estratégia. Mel, o que o Estado-Maior pensa que devemos fazer?
– Só falamos muito rapidamente – disse Mel, alisando o bigode com dois dedos. – Mas Ernie, Mel, Greg e eu conversávamos antes de você chegar à Casa Branca e estamos todos de acordo nesse assunto. Independentemente do atentado ter sido ou não cometido com o apoio do governo, procuraremos controlar a situação pelos canais diplomáticos. Daremos garantias à Coreia do Norte quanto à continuidade do diálogo bilateral, do incremento nas relações comerciais e da nossa ajuda em manter o atual regime.
– O único problema – disse Greg Kidd, o louro e jovial diretor da CIA – é se recompensas políticas e econômicas serão suficientes para impedi-los de abocanhar o território. Para eles, a Coreia do Sul é o próprio Cálice Sagrado, especialmente para certos generais, que podem não aceitar menos que isso. Tomar o Sul economizaria uma fortuna para eles: o programa de armamento nuclear é um verdadeiro sangradouro na economia e poderiam cortá-lo se não tivessem que se preocupar com a nossa presença nuclear na Coreia do Sul.
– Então talvez tenhamos uma crise em que o melhor a longo prazo seria partir para uma guerra comum do que alimentar uma corrida atômica sem fim.
– Exatamente, Paul. Sobretudo quando eles têm que brincar de gato e rato com os Estados Unidos.
– Se o dinheiro tem um papel tão importante – continuou Hood – , o que é que poderíamos fazer para apertar o cerco, economicamente?
– O segundo-secretário de Estado está nq telefone falando com o Japão neste exato momento – disse Av – , mas a situação é delicada. Ambas as Coreias ainda nutrem um forte antagonismo quanto ao Japão, devido às atrocidades cometidas na Segunda Guerra. Mas tanto a do Norte como a do Sul são suas parceiras comerciais. Se o Japão não conseguir ficar de fora, vai procurar, com todo o afinco, manter relações normais com ambos os lados.
– Típico – resmungou Mel.
– Compreensível – replicou Av. – Os japoneses morrem de medo de uma guerra na península e da possibilidade de ela se alastrar.
Greg Kidd acrescentou:
– Há um outro ponto a se considerar. Se não puderem ficar neutros, o mais provável é que o Japão se alinhe com a Coreia do Norte
– Contra nós? – indagou Hood.
– Contra nós.
– Típico – reforçou Mel.
– As ligações econômicas entre o Japão e a Coreia do Norte são mais profundas do que a maioria das pessoas imagina. O submundo japonês vem investindo fortemente os lucros que têm com jogo e com drogas na Coreia do Norte. E, acreditamos, com o apoio tácito de Tóquio.
– E por que o governo japonês apoiaria uma coisa dessas? – perguntou Hood.
– Porque temem que a Coreia do Norte possua mísseis Scud capazes de atravessar o mar do Japão. Em caso de guerra, se o norte jogar esse trunfo, os japoneses iam levar uma surra e tanto. Apesar de todo o esforço de promoção, a verdade é que os nossos mísseis Patriot abateram muito poucos Scuds na Guerra do Golfo. Os japoneses vão ficar do nosso lado enquanto não tiverem que desarrumar os cabelos.
Hood ficou quieto por uns segundos. Seu trabalho era puxar os fios e ver para onde os levavam, por mais estranha que a solução parecesse. Virou-se para o segundo diretor-assistente McCaskey.
– Darrell, qual é o nome daquele grupo de ultranacionalistas japonês que estouraram a Bolsa do México, quando o Bush começou a fazer campanha pelo NAFTA?
– A Liga do Céu Vermelho.
– Esse mesmo. Que eu me lembre, eles são contra relações mais próximas entre os Estados Unidos e o Japão.
– É verdade, apesar de sempre terem assumido a responsabilidade por tudo o que fazem. Mas tem razão num ponto: isto pode ser da autoria de terceiros, como negociadores de armas do Oriente Médio tentando fazer uma venda para a Coreia do Norte. Vou botar umas pessoas examinando a possibilidade.
O ex-agente do FBI dirigiu-se ao computador no outro lado da sala e começou a mandar mensagens a correspondentes na Ásia e na Europa.
– Eu também tive essa ideia – disse Greg Kidd. – É bem interessante. Mas talvez não seja o tráfico de armas que esteja por trás disso. Tenho homens examinando a possibilidade de alguém estar tentando nos atrair para uma guerra, enquanto viram a mesa num outro lugar, no Iraque ou no Haiti, por exemplo. Sabem perfeitamente que a opinião pública americana jamais aceitaria nossos soldados combatendo em duas guerras ao mesmo tempo. Se primeiro nos metessem na Coreia até o nariz, ficariam livres para lutar sua verdadeira guerra.
Hood olhou para a pequena imagem de Bugs Benet.
– Inclua essas possibilidades no Estudo de Estado-Maior como uma nota sob o título PROBLEMA. Assim que esse porra do Rodgers chegar, ele e a Martha podem elaborar um adendo. – Voltou a olhar o monitor. – Av, onde é que os chineses ficam em tudo isso?
– Falei com o Ministro das Relações Exteriores pouco antes da reunião. Eles sustentam que não querem uma guerra na fronteira da Manchúria, mas também sabemos que não desejam a reunificação das Coreias. Com o tempo, a Coreia unificada se transformaria numa influência capitalista capaz de despertar ciúme e inquietação na China. No primeiro caso, uma leva de refugiados buscaria asilo na China, e, no segundo, teríamos os chineses querendo uma parte do bolo coreano.
– Mas Beijing ainda fornece recursos e material bélico à Coreia do Norte.
– Em quantidades relativamente pequenas.
– E, em caso de guerra, isso iria aumentar ou parar?
Av jogou para o alto uma moeda invisível.
– Politicamente, pode acontecer tanto uma coisa como outra.
– Infelizmente, precisamos chegar a um consenso para mostrar ao presidente. Alguém se atreve a fazer um comentário definitivo?
– O que você diz? – perguntou Burkow.
Hood pensou nos perfis psicológicos de Liz Gordon e decidiu jogar com a sorte.
– Devemos crer que irão continuar com o apoio que dão à Coreia do Norte nos níveis atuais, mesmo em caso de guerra. Assim, continuariam apoiando seus antigos aliados sem criar um antagonismo adicional com os Estados Unidos.
– Parece razoável – disse o assessor de Segurança Nacional Burkow – mas, se me perdoa, acho que está se esquecendo de um detalhe importante. Se o presidente confiar em nós e os chineses acabarem aumentando a ajuda, onde é que vamos esconder a cara? Entretanto, se o aconselharmos a deslocar uma quantidade substancial de homens para o Mar Amarelo, prontos para atacar a Coreia do Norte, mas evidentemente de olho na China, ele ficará muito aliviado se Beijing não fizer nada.
– A não ser que vejam as nossas frotas como uma ameaça – disse Colon, o secretário de Defesa. – Nesse caso, poderiam se ver tentados a se envolver.
Hood pensou por vários segundos.
– Acho que devemos diminuir a importância da China.
– Concordo – disse Colon. – Praticamente não consigo ver uma razão que nos levaria a atacar as linhas de abastecimento deles. Por isso não há motivo para mandar armas para aquela vizinhança.
Hood ficou feliz, embora não surpreendido, com a concordância de Colon. Hood nunca servira o Exército – conseguiu escapar da loteria do recrutamento em 1969 – e uma das primeiras coisas que tinha aprendido sobre oficiais era que geralmente eram os últimos a advogar o uso da força. Quando defendiam, queriam saber em detalhes como seria a estratégia para a retirada das tropas.
– Também concordo, Ernie – disse Av. – Os chineses convivem com a nossa presença militar na Coreia há quase meio século. Se a guerra explodir e nós entrarmos, eles simplesmente vão olhar para o outro lado. Não vão querer perder o posto de nação comercialmente mais favorecida, não agora que a economia está começando a funcionar. Além do mais, para eles cai muito bem o papel de Grande Pai Branco, que tenta ajeitar as coisas para nós.
Hood teclou F6 no computador e depois Control/Fl para ver como estava indo o documento. Enquanto fazia a transcrição, Bugs juntara as informações mais relevantes no dossiê em branco do Estudo de Estado-Maior. Quando a reunião terminasse, Hood poderia repassar o rascunho, tirar e acrescentar o que fosse necessário e encaminhá-lo logo ao presidente.
O breve olhar que lançou ao documento mostrou que tinham tudo do que precisavam – a não ser alternativas militares e a opinião da Força-tarefa se deveriam ou não ser utilizadas.
– Muito bem – falou. – Belo trabalho. Agora vamos acertar o resto.
Dependendo principalmente do secretário de Defesa Colon e do chefe do Estado-Maior Parker, e reportando-se aos arquivos políticos, a equipe aconselhou uma atitude moderada até ter o campo de batalha inteiramente pronto: contínuas e lentas manobras de tropas, tanques e mísseis Patriot, além de armas químicas, biológicas e nucleares em alerta e prontas para serem utilizadas.
Sem contar com informações mais recentes da KCIA, ou com a verificação de McCaskey sobre terroristas internacionais, ainda em andamento, a Força-tarefa também recomendou, além disso, que o presidente fizesse uso dos canais diplomáticos para controlar e resolver a crise.
Hood deu aos integrantes da Força-tarefa meia hora para ler o Estudo de Estado-Maior e acrescentar qualquer comentário, antes de começar a trabalhar no documento final. Quando terminou, Bugs limpou a garganta.
– Senhor, o vice-diretor Rodgers gostaria de lhe falar.
Hood olhou para a contagem regressiva. Rodgers saíra de contato por quase três horas. Esperava que tivesse uma boa explicação.
– Mande-o entrar imediatamente, Bugs.
Bugs olhou como se quisesse desabotoar o colarinho. Seu rosto ficou vermelho.
– Impossível, senhor.
– Por quê? Onde é que ele está?
– No telefone.
Hood lembrou-se da sensação incômoda que sentira quando Rodgers citara o Lorde Nélson. Suas feições se fecharam.
– Falando de onde?
– De... algum lugar na fronteira da Virgínia com o Kentucky, senhor.
Vinte e Um
Terça-feira, 21:00, Seul
Donald andou um pouco após sair da Embaixada. Estava ansioso para chegar à base, ver a esposa e telefonar aos pais dela dando a terrível notícia. Mas antes precisava de um tempo para se preparar. E pensar. O pobre pai e o irmão mais novo de Soonji ficariam arrasados.
Também tinha uma ideia que precisava refletir.
Caminhou devagar pela rua Chongjin, passando pelo mercado cheio de bandeiras, luzes e toldos coloridos, tudo muito vivo sob as luzes da cidade. O lugar estava com mais gente do que de costume, cheio de curiosos que tinham vindo ver o local da explosão, tirar fotos, gravar em vídeo e recolher pedaços de tijolo ou ferro retorcido como recordação.
Comprou um pote novo de tabaco numa barraca, uma marca coreana. Queria um cheiro e um sabor para associar com aquele momento, que sempre lhe lembrariam do doloroso amor que sentia por Soonji.
Sua pobre Soonji. Renunciara a um mestrado em ciência política para se casar com ele, para ajudar os exilados coreanos nos Estados Unidos. Nunca duvidara da afeição que sua esposa lhe dedicara, mas sempre se perguntara o quanto ela havia se casado por amor e quanto por ser mais fácil de entrar nos Estados Unidos em sua companhia. Mesmo agora, não se sentia culpado pensando nisso. Sua disposição em sacrificar uma carreira que lhe era cara, de se casar com um homem a quem mal conhecia, só para ajudar os outros, parecia torná-la ainda mais linda aos seus olhos. Se tinha uma coisa que aprendera sobre as pessoas em 62 anos de vida é que as relações não deviam ser marcadas pela sociedade, e sim pelas pessoas envolvidas. E este sem dúvida alguma foi o caso dele e Soonji.
Acendeu o cachimbo enquanto andava, o brilho do fogo mostrando seus olhos cheios de água. Parecia que podia se virar, pegar o telefone na Embaixada e ligar para ela, perguntar o que estava lendo, ou o que havia comido, como fazia toda noite que não estavam juntos. Era inconcebível que não pudesse fazer isso. Não era natural. Chorou enquanto esperava para atravessar a rua.
Será que alguma coisa voltaria a ter importância?
Naquele momento, não conseguia pensar em nada que tivesse. Seja lá qual fosse o amor que compartilhassem, a parceria deles também continha uma genuína dose de admiração recíproca. Soonji e ele sabiam que, mesmo quando ninguém mais aprovava o que faziam ou tentavam fazer, eles mesmos aprovavam. Riam e choravam juntos; discutiam, brigavam, beijavam e se reconciliavam juntos, e juntos sofriam pelos coreanos que trabalhavam duro e eram brutalmente violentados nas cidades americanas. Ele podia continuar sozinho, embora não fosse o que desejava. Agora seria movido pela cabeça e não pelo coração. O coração morrera naquela tarde, pouco depois das seis.
Apesar de tudo, ainda havia uma parte que continuava incendiando, que ficava mais quente quanto mais ele pensava especificamente no atentado. Na explosão. Já sofrerá perdas e tragédias na vida, perdera muitos amigos e colegas em acidentes de carro, de avião e mesmo assassinatos. Mas essas coisas ou eram obra do acaso ou tinham sido planejadas: uma questão de destino ou um ato direcionado a um alvo específico, para um fim ou uma filosofia em particular. Simplesmente não conseguia entender a terrível impunidade que levava alguém a cometer um ato cego como aquele, capaz de tirar a vida de Soonji, como a de tantos outros. Que causa era essa tão urgente, cuja melhor maneira de chamar a atenção era matando inocentes? Que mundo particular, ambição ou ego tão forte era esse que só podia se satisfazer daquela maneira?
Donald não sabia, mas aquilo era importante para ele. Queria que os autores fossem capturados e executados. Antigamente, a Coreia decapitava assassinos e pendurava a cabeça em mastros onde os pássaros se alimentavam, deixando o espírito cego, surdo e mudo enquanto vagava pela eternidade. Era isso o que queria para aqueles bandidos. Isso para que eles não se encontrassem com Soonji numa vida futura: em sua incrível misericórdia, ela era capaz de tomá-los pela mão e levá-los a um lugar seguro e confortável.
Parou de andar defronte a um cinema e ali ficou parado por cerca de um minuto, pensando de novo nas pegadas e na garrafa de água. Viu-se desejando fazer parte da equipe de Hwan, não só para entregar os assassinos à justiça, mas também para poder se concentrar em alguma coisa que não fosse a própria dor.
Porém, havia um trabalho que poderia levá-lo às raízes de tudo aquilo mais rápido do que os homens da KCIA. Precisaria da ajuda e da confiança do general Norbom para conseguir e precisava estar convicto, de alguma forma, de que Soonji teria aprovado.
Pensar em Soonji outra vez fez as lágrimas verterem pelo seu rosto. Depois, indo à beira da calçada, Donald fez sinal para um táxi e partiu para a base americana.
Vinte e Dois
Terça-feira, 7:08, fronteira entre os estados de Virgínia e Kentucky
Rodgers apertou o fone de ouvido contra as orelhas, mas, apesar do volume estar no máximo, tinha grande dificuldade em ouvir o que Hood estava dizendo. Tudo bem: quando tirara os tapa-ouvidos amarelos para atender a chamada, sabia que a voz não ia ser amiga e calorosa. E não foi.
Melhor seria se ele gritasse, porque aí conseguiria ouvir. Mas Hood não costumava gritar. Quando se zangava, falava devagar, medindo cuidadosamente as palavras, como se uma palavra errada pudesse estragar a sua fúria. Por um motivo qualquer, Rodgers imaginava Hood envergando um avental, segurando uma grande paleta e falando suavemente como se estivesse pondo pizzas no forno.
– ... me deixou perigosamente desfalcado – dizia. – A Martha está sendo meu braço direito.
– Ela é ótima, Paul – gritou no microfone. – Achei que o meu lugar era com a equipe, na primeira missão internacional.
– Essa decisão não era sua. Devia ter pedido minha permissão primeiro.
– Eu sabia que você estava ocupado. Não queria incomodar.
– Não queria que eu dissesse “não”, Mike. Ao menos confesse isso. Não me irrite mais.
– Tudo bem. Eu admito.
Rodgers olhou para o tenente-coronel Squires, que fingia não ouvir a conversa. O general tamborilou no rádio, esperando que Hood soubesse a hora de parar. Era tão profissional quanto o diretor, principalmente em assuntos militares, e não tinha a intenção de ganhar mais que um sermão de desabafo, tipo era-isso-o-que-eu-tinha-a-dizer – especialmente de um cara que angariava fundos com gente como Julia Roberts e Tom Cruise, enquanto ele comandava uma brigada militar no Golfo Pérsico.
– Muito bem, Mike – disse Hood – , já que está aí, como é que podemos maximizar a sua eficácia?
Ótimo. Ele sabia quando parar.
– Por enquanto, só me mantenha informado de qualquer alteração e, se tivermos que agir, certifique-se de que os computadores vão fazer as simulações certas com o meu pessoal.
– Estou copiando as simulações e a única novidade é que o presidente nos encarregou da Força-tarefa. Quer bater duro.
– Ótimo.
– Vamos discutir esse assunto comendo pizza e bebendo uma cerveja quando acabar. Por enquanto, suas ordens são de prosseguir até o destino. Qualquer mudança ou atualização, nós avisamos pelo rádio.
– Positivo.
– E... Mike?
– Sim?
– Deixe o trabalho pesado para os jovens, entendeu, Senhor de Meia-Idade?
Os homens se distraíam e Rodgers sentou para trás, rindo do personagem que mais gostavam no Saturday Night Live. No entanto, o que mais lhe chamara a atenção era a referência àpizza. Talvez fosse apenas coincidência, mas Hood tinha um instinto impressionante para captar o que as pessoas pensavam. Rodgers frequentemente se perguntava se Hood desenvolvera essa técnica na política, ou se por causa dessa técnica é que fora atraído para a vida pública. Sempre que sentia vontade de dar um pontapé no traseiro de Hood, Rodgers procurava se lembrar que o cara não chegara até ali por acaso – por mais que cobiçasse aquele cargo.
Além disso, gostaria que Hood fosse com ele para a frente de batalha de vez em quando, em vez de fazer o papel de Marido do Ano. Talvez pudessem ganhar uma fortuna juntos, e algumas de suas garotas podiam até amolecê-lo um pouco – facilitando a vida de todos.
Retirando os fones de ouvido, Rodgers se recostou na fuselagem fria e trepidante do avião. Passou a mão pelo cabelos grisalhos, cortados rentes no dia anterior.
Sabia que Hood não seria diferente, assim como Rodgers jamais poderia mudar, o que não era de todo mau. O que foi mesmo que Laodamas dissera para Ulisses? “Então venha jogar nosso jogo. Alivie o seu coração.” Onde estariam eles sem a competição e a rivalidade para incitá-los? Se Ulisses não tivesse participado e ganho o arremesso de disco, não seria convidado ao palácio de Alcino, nem teria ganho os presentes que foram tão importantes em sua viagem de volta.
– O senhor quer começar a estudar o manual? – perguntou Squires. – Vai demorar umas duas horas.
– Perfeitamente – respondeu Rodgers. – Vai aliviar o meu coração.
Squires lançou-lhe um olhar intrigado, enquanto chegava mais perto e pegava a enorme brochura.
Vinte e Três
Terça-feira, 7:10, Centro de Operações
Liz Gordon estava sentada em sua sala, decorada apenas com um retrato autografado do presidente, uma carte de visite de Freud e, na porta do armário, um alvo com a cara de Carl Jung, presente de seu segundo ex-marido.
Do lado oposto da espartana mesa de aço, os psicólogos assistentes Sheryl Shade e James Solomon trabalhavam em dois laptops ligados ao Peer-2030 de Liz.
Ela usou o Marlboro que acabava para acender um novo, enquanto olhava fixamente para a tela do monitor. Soprou a fumaça do cigarro.
– Parece que os nossos dados mostram o presidente da Coreia do Norte como um cidadão perfeitamente confiável. O que vocês acham?
Sheryl concordou.
– Está tudo normal, ou mais para bem-ajustado. Forte ligação com a mãe... Teve a mesma namorada por muitos anos... Lembra-se de aniversários e datas importantes... Nenhuma aberração sexual... Alimentação normal. E tem até aquele comentário do dr. Hwong sobre como ele usa as palavras para transmitir ideias, em vez de tentar mostrar riqueza de vocabulário que, no caso dele, é enorme.
– E nada consta nos arquivos que indique que alguém da sua equipe executiva pudesse se voltar contra ele – completou. – Se for um terrorista, não faz parte do círculo mais próximo do presidente.
– Certo – confirmou Liz. – E você, Jimmy?
O jovem balançou a cabeça.
– Não vejo qualquer sinal de agressividade no Zonghua Renmin Gonghe Guo. Nas conversas reservadas que monitoramos aqui ou na CIA desde o último relatório (o mais recente, às sete da manhã de ontem), o presidente, o primeiro-ministro, o secretário-geral do Partido Comunista e os demais líderes políticos da República Popular da China foram unânimes em desejar não se envolver em qualquer tipo de confrontação na península.
– O que, no fim das contas, quer dizer que estávamos certos desde o início – falou Liz, soltando uma baforada. – A metodologia está correta, as conclusões estão corretas, então pode colocar essas informações na porra do banco. – Deu mais uma longa tragada, depois disse a Solomon para enviar por fax os nomes dos líderes mais atuantes da China ao embaixador Rachlin, em Beijing. – Não vejo o menor motivo por que devemos nos preocupar com eles, mas Hood quer cobrir todas as possibilidades.
Solomon se despediu erguendo dois dedos, desligou o laptop e saiu do escritório. Fechou a porta atrás de si.
– Acho que isso cobre o que o Paul queria – disse Liz. Deu uma tragada forte no cigarro, enquanto Sheryl desligava seu computador e recolhia o fio. Liz a olhou cuidadosamente. – Quantas pessoas nós temos aqui, Sheryl? Setenta e oito?
– Quer dizer, no Centro?
– E. São setenta e oito aqui, mais umas quarenta e duas de apoio que compartilhamos com o Departamento de Defesa e a CIA, mais os doze membros da equipe de ataque e o pessoal da Base de Andrews que utilizamos. Digamos umas cento e quarenta, ao todo. Então por que, com toda essa gente, incluindo muitos que são amáveis, de mente aberta e extremamente competentes no que fazem, por que é que eu me importo tanto com o que o Hood pensa de nós? Por que não consigo só fazer o meu trabalho, entregar-lhe o que pediu e tomar um café expresso?
– Porque buscamos a verdade por si só e ele procura arranjar um jeito de administrá-la, de usá-la para dominar.
– Quer dizer que é isso o que você pensa?
– Em parte. Você também se sente frustrada pela mentalidade machista dele. Lembra logo do perfil psicológico: ateu, detesta ópera, nunca experimentou drogas piscodélicas nos anos sessenta. Se ele não consegue pôr a mão numa coisa, nem incorporá-la ao seu trabalho diário, não vale a pena o esforço. Embora seja uma bênção, num certo sentido.
– Em que sentido? – Liz parecia cansada, quando um bip no computador chamou sua atenção.
– Mike Rodgers é igual a ele. Se não tivessem isso em comum, iriam se devorar com olhares e indiretas, mais do que já fazem.
– O gato e o rato do Centro.
A magérrima loura ergueu um dedo.
– Gostei.
– Mas sabe, dra. Shade, acho que também há uma outra coisa.
Shade se interessou.
– É? O quê?
Liz sorriu.
– Desculpa, Sheryl, mas graças à tecnologia do correio eletrônico, vejo que a minha presença está sendo desejada mais uma vez por Ann Farris e Lowell Coffey II. Talvez possamos terminar a conversa.
Com isto, a chefe da psicologia chaveou seu computador, colocou a chave no bolso e caminhou em direção à porta – deixando confusa sua assistente.
Enquanto caminhava firme pelo corredor até a sala de imprensa, dobrando mais um chiclete na boca, sua pura satisfação de mascar, Liz foi obrigada a reprimir um sorriso. Não era justo fazer aquilo com Sheryl, mas não deixava de ser um bom exercício. Sheryl era jovem, tinha acabado de sair da Universidade de Nova York e irradiava conhecimento literário – vários kilobytes a mais do que Liz tinha na idade dela, dez anos atrás. Entretanto, Sheryl não tinha muita experiência de vida e seu pensamento era linear demais. Precisava explorar alguma região mental sem ter um mapa rodoviário, descobrir seus próprios caminhos. E um enigma como o que Liz lhe dera – porque a minha chefe se preocupa tanto com o que o chefe dela pensa? – a ajudaria a encontrar um rumo, passar pelo aprendizado. Será que ela tem uma queda por ele? Será que não éfeliz com o marido? Será que o que ela quer é uma promoção, e se for o caso, como isso me afetaria? Um pensamento daqueles poderia levá-la a muitos lugares interessantes, todos perfeitamente benéficos.
A verdade é que Liz gostava muito de café expresso e não ficava pensando em Hood, enquanto tomava os cafezinhos. Sua incapacidade – ou má vontade – em ver o quanto o trabalho dela era científico não a perturbava. Crucificaram Cristo e calaram Galileu, e nada disso mudou a verdade do que pregavam.
Não, o que a irritava era a maneira como ele agia como político, até que a merda caísse no ventilador. Ele a ouvia gentil e cuidadosamente e acrescentava pequenas coisas do que dizia nos planos de política e estratégias – embora não porque desejasse. O regulamento do Centro é que exigia. Mas exatamente porque não confiava no seu trabalho, era sempre a primeira a ser chamada quando alguma coisa dava errado. Liz detestava aquilo e jurou que algum dia vazaria o dossiê com o perfil de ateu para Pat Robertson.
Você nunca faria isso, disse a si mesma, enquanto batia na porta de Ann Farris, mas só pensar na possibilidade deixava-a mais calma sempre que se enervava.
Ann Farris já fora considerada pelo Washington Times uma das 25 divorciadas mais desejadas da capital federal. Três anos mais tarde, a situação continuava a mesma.
Com l,70m de altura, cabelos castanhos amarrados com um lenço, dentes brancos como marfim, e olhos cor de mel, também era uma das mulheres menos compreendidas de Washington. Formada em jornalismo e com pós-graduação em administração pública pela Bryn Mawr, a aristocrática família Farris, de Greenwich, Connecticut, esperava que a filha fosse trabalhar com o pai em Wall Street, e depois numa supercompanhia como vice-presidente e depois vice-presidente sênior; depois, o céu era o limite.
Em vez disso, foi trabalhar como repórter política para The Hour, na cidade vizinha de Norwalk, onde ficou dois anos. Acabou ganhando o posto de assessora de imprensa do governador do estado, um iconoclasta filiado ao terceiro partido, e se casou com um comentarista de rádio ultraliberal de New Haven. Largou a profissão para cuidar do filho e saiu da cidade dois anos depois, quando cortes no orçamento custaram o emprego ao marido, que, desesperado, lançou-se aos braços de uma rica senhora de Westport. Instalada em Washington, Ann arranjou emprego como assessora de imprensa de um jovem senador recém-eleito por Connecticut (um homem casado, brilhante e atencioso). Logo após sua chegada, começou a ter um caso amoroso com ele – o primeiro de muitos casos intensos e felizes com homens casados, brilhantes e atenciosos, um dos quais ocupava um cargo mais alto do que o de vice-presidente.
Este último dado não constava do perfil psicológico de Ann, que era confidencial, mas Liz sabia porque Ann lhe dissera. Assim como confessara – embora fosse perfeitamente óbvio – que se sentia atraída por Hood e nutria algumas fantasias exóticas sobre ele. Aquela beleza escultural era admiravelmente franca quanto a seus relacionamentos, pelo menos com Liz: Ann lhe fazia lembrar de Meg Hughes, uma estudante católica que conhecera, cuidadosa e gentil na presença das freiras, mas que se punha a revelar os segredos mais obscuros quando ficavam sozinhas.
Liz várias vezes se perguntava se Ann confiava nela porque era psicóloga ou porque não a via como rival.
A voz rouca de Ann mandou Liz entrar.
O cheiro da sala dela era peculiar, uma mistura de perfume Faire, um aroma de pinho e o odor fraco e almiscarado de primeiras páginas de jornal, cientificamente preservadas, desde a Revolução até a época atual. Eram mais de quarenta ao todo, e Ann dizia que gostava de ler os artigos para pensar de que outro jeito teria lidado com as crises.
Liz lançou um rápido sorriso para Ann e piscou devagar para Lowell Coffey II. O jovem advogado se levantou quando ela entrou. Como sempre, brincava com uma coisa de valor, uma abotoadura de diamante.
Masturbando o dinheiro, pensou Liz. Ao contrário de Ann, o menino rico Coffey Percy adotara o meio de vida do pai advogado em Beverly Hills, e toda a sua grandiloquência. Estava sempre tocando em alguma coisa que custasse mais do que todo um ano de salário – gravata Armani, caneta-tinteiro Flagge, de ouro, relógio Rolex. Ela não sabia se isso lhe dava prazer ou se era apenas uma forma de mostrar como tinha os bolsos cheios – ou ambas as coisas – , mas era ostensivo e irritante. O mesmo quanto ao cabelo louro e rente, as unhas polidas e o terno cinza Yves St. Laurent, perfeitamente talhado. Um dia, chegara a pedir a Hood para instalar uma câmera oculta na sala dele, não para saber se ele passava a escova toda vez que fechava a porta, mas quanto tempo demorava nisso.
– Que o dia de hoje seja maravilhoso – cumprimentou Coffey.
– Para você também, Segundo. Bom dia, Ann.
Ann sorriu e mostrou dois dedos. Estava sentada atrás da mesa grande e antiga, em vez de na ponta – uma espécie de barreira corporal contra Coffey, pelo que Liz pensava. O advogado de Yale era esperto ou covarde demais para arriscar uma cantada franca, mas o modo como praticamente convidava Ann tornava-o mais impopular do que congelamento de salário para o pessoal de relações públicas e psicologia.
– Obrigada por ter vindo, Liz – falou Ann. – Desculpe tê-la chamado só por isso, mas o Lowell insistiu. – Girou o monitor do computador. – Paul quer uma nota à imprensa divulgada às oito horas e eu preciso que você assine uma declaração sobre os líderes da Coreia do Norte.
Liz apoiou-se com um braço esticado sobre a mesa.
– Isso não é assunto para o Bob?
– Tecnicamente, sim – respondeu Coffey, a voz parecida com um tapete de veludo sendo desenrolado. – Mas algumas das palavras que Ann escolheu podem resvalar em calúnia. Mesmo que eu não possa dar certeza se é defensável, quero saber se o ofendido é capaz de impetrar uma reclamação.
– Se o presidente da Coreia do Norte iria nos processar?
– O Ariel Sharon processou.
– Ele processou a Time, e não o governo americano.
– Ah, mas processar o governo seria uma bela maneira de a oprimida Coreia ganhar simpatia. – Coffey se sentou, largou a abotoadura e remexeu o nó da gravata. – Será que as senhoras gostariam de que o nosso trabalho fosse descoberto, que fôssemos forçados a revelar nossas fontes, nossos procedimentos operacionais etc.? Eu, não.
– Tem razão, Segundo, embora dificilmente vá haver processo. Não se pode processar um governo soberano. Mesmo assim, o risco existe.
Coffey fez uma expressão de apenas-faça-o-que-eu-mando e indicou a tela com a mão. Embora detestasse obedecer, Liz olhou para o monitor.
– Obrigada – disse Ann, dando-lhe um tapinha nas costas da mão.
Liz mascou o chiclete com força enquanto lia. O trecho destacado era breve e conciso:
Não acreditamos que a República Democrática Popular da Coreia deseje a guerra, e condenamos os boatos de que o presidente tenha pessoalmente ordenado o atentado. Não há indícios que o mostrem ter estado sob pressão de oficias da linha dura que se opõem à reunificação e ao diálogo.
Liz olhou para Coffey:
– E daí?
– Fiz uma pesquisa. Esses boatos nunca foram publicados ou divulgados.
– Isso porque a explosão só aconteceu há três horas.
– Exatamente. Faria com que nós fôssemos os primeiros a dar vazão aos tais boatos. Especialmente porque Bob Herbert foi o único a falar assim.
Liz coçou a testa.
– Mas estamos condenando os boatos.
– Não importa. Ao levantar a questão, mesmo que a condenemos, estamos, juridicamente, correndo um risco. Precisamos mostrar que não há malícia.
Ann juntou as mãos.
– Preciso desse parágrafo, Liz, ou de alguma coisa bem próxima a isso. O que estamos querendo é mostrar à Coreia do Norte que, se o presidente ou os assessores militares estiverem por trás disso, vamos cair em cima deles. E, se não estiverem, então a nota vai significar apenas o que está escrito: que condenamos os boatos.
– E vocês querem que eu diga qual vai ser a reação dele quando ler o comunicado?
Ann assentiu.
Liz começou a mascar mais devagar. Detestava dar razão a Coffey, mas não podia deixar isso afetar o seu trabalho. Voltou a ler o parágrafo.
– O presidente não é assim tão tolo para não esperar que pensássemos uma coisa dessas. Por outro lado, é suficientemente orgulhoso para se sentir ofendido do jeito que descreveram.
Ann parecia decepcionada. Coffey suspirou lentamente.
– Alguma sugestão? – perguntou Ann.
– Duas. Onde está escrito “...e condenamos os boatos de que o presidente tenha pessoalmente ordenado...”, eu mudaria o presidente para o governo, que despersonaliza o comunicado.
Ann olhou para ela por um bom tempo.
– Tudo bem. Eu aceito. Que mais?
– Esse é um pouco mais difícil de engolir. Onde você escreveu “Não há indícios que o mostrem ter estado sob pressão de oficiais da linha dura que se opõem à reunificação e ao diálogo”, eu colocaria algo como “Acreditamos firmemente que o presidente continue a resistir a pressões de oficiais da linha dura que se opõem à reunificação e ao diálogo”. Isso continua a mostrar à Coreia que sabemos da existência de oficiais da linha dura, enquanto livramos o presidente.
– E se ele for um crápula? – perguntou Ann. – Não vai parecer ingênuo da nossa parte, se no fim das contas ele estiver por trás de tudo?
– Não acredito – opinou Liz. – Faria ele parecer um crápula ainda maior, por termos depositado confiança nele.
Ann olhou de Liz para Coffey.
– Eu concordo – disse Coffey. – É a mesma mensagem, sem baixarias.
Ann pensou mais um momento, depois digitou as alterações. Salvou o documento, depois passou o mouse para Liz.
– Você é boa. Quer trocar de lugar comigo por algum tempo?
– Não, obrigada. Prefiro os meus psicóticos aos seus. – Olhou rapidamente para Coffey e depois de novo para Ann.
Ela assentiu, enquanto Liz pegava o mouse para acessar sua senha e colocá-la na margem do documento. Assim, seu código se tornara parte do arquivo permanente, ao lado das substituições, embora isso não aparecesse na nota oficial.
Quando Liz estava pronta para salvar as modificações no arquivo, a tela azul ficou preta e o ventilador do computador desligou.
Ann olhou embaixo da mesa para ver se não tinha, de algum jeito, chutado o plug do estabilizador, mas o fio estava no devido lugar e a luz verde do estabilizador estava ligada.
Ouviram ruídos abafados vindos de fora da sala. Coffey foi abrir a porta.
– Parece – sentenciou – que não somos os únicos.
– O que quer dizer?
Coffey olhou para ela, a expressão séria.
– Parece que todos os computadores do Centro de Operações pifaram.
Vinte e Quatro
Terça-feira, 21:15, Seul
Depois que o táxi o deixou no portão principal da base americana, Donald mostrou ao guarda o seu crachá do Centro. Um telefonema ao escritório do general Norbom e permitiram-lhe entrar.
Howard Norbom tinha sido major na Coreia quando Donald era embaixador. Encontraram-se numa festa para comemorar o vigésimo aniversário do fim da guerra e se entrosaram bem desde o primeiro instante. Ambos eram da mesma tendência política liberal, procuravam uma coisinha linda para se casar e eram fãs de piano clássico, especialmente Chopin, como Donald viria a descobrir quando o pianista se mandou e o major tomou o lugar dele e tocou o Étude Révolutionaire tremendamente bem.
O major Norbom viria a achar sua coisinha linda duas semanas mais tarde, ao conhecer Diane Albright, da UPI. Casaram-se três meses depois e recentemente comemoraram 24 anos de casamento. O general e Diane tinham dois filhos crescidos: Mary Ann, uma biógrafa que já fora indicada para o Prêmio Pulitzer, e Lon, que trabalhava para o Greenpeace.
Depois que um ordenança o levou até a sala do general, os homens se abraçaram e Donald recomeçou a chorar.
– Sinto muito – disse o general, abraçando o amigo – , muito mesmo. Diane está trabalhando em Soweto, senão estaria aqui. Mas ela vem se encontrar conosco.
– Obrigado – soluçou Donald – , mas decidi mandar Soonji para os Estados Unidos.
– E mesmo? E o pai dela aceitou...?
– Eu ainda não falei com ele – Donald riu, tristemente. – Você bem sabe o que ele pensava do casamento. Mas eu também sei o que Soonji sentia pelos Estados Unidos e é lá que eu quero que ela fique. Acho que é onde ela gostaria de ficar.
Norbom aquiesceu, depois deu a volta na mesa.
– A Embaixada vai providenciar a papelada, mas vou cuidar para que tudo ande rápido. Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você?
– Tem, mas antes me diz uma coisa. Ela já está aqui?
Norbom comprimiu os lábios e indicou que sim.
– Quero vê-la.
– Agora não – disse o general, olhando para o relógio. – Vou mandar servir o jantar. Enquanto isso, vamos conversar.
Donald olhou para os olhos do amigo, cinzentos como aço. No rosto áspero de 52 anos do comandante, aqueles olhos inspiravam confiança e Donald sempre confiara nele imediatamente. Se Norbom não queria que ele visse o corpo da mulher no momento, obedeceria. Só tinha que vê-la logo, deixar que sua alma o guiasse, dissesse-lhe que o que tencionava fazer era o certo.
– Tudo bem – concordou Donald, calmamente. – Vamos conversar. Você conhece o general Hong-koo?
Norbom franziu o cenho.
– Pergunta estranha essa. Estive com ele numa reunião na Zona de Armistício, em 1988.
– Alguma impressão latente?
– Lógico. Ele é arrogante, grosso, emocional e de confiança, num jeito meio destrambelhado. Se disser que vai dar um tiro em você, é sinal que vai. Eu não o conheço tão bem quanto o general Schneider, mas também não fico olhando a cara dele e de seus homens lá na Zona de Armistício todo dia, nem fico escutando as músicas norte-coreanas que eles tocam na fronteira no meio da noite, nem fico vendo em quantos centímetros ou decímetros ele aumenta o mastro da bandeira, para que sempre esteja mais alta que a nossa.
Donald começou a encher o cachimbo.
– Nós não tocamos heavy metal para ele, nem aumentamos o mastro?
– Só quando ele faz primeiro. – Norbom permitiu-se um leve sorriso. – Por que pergunta, seu simpatizante dos comunas?
Donald viu o retrato de Diane na mesa do general e desviou o olhar. Levou um momento para se recompor.
– Quero me encontrar com ele, Howard.
– Impossível. Já é bastante difícil para o general Schneider falar com ele.
– Ele é militar. Eu sou um diplomata. Pode ser que faça diferença. De qualquer jeito, sou eu que vou me preocupar em fazer o contato. O que eu preciso é de sua ajuda para chegar à Zona de Armistício.
Norbom se recostou.
– Deus me livre, Greg. O que foi que o Mike Rodgers fez com você? Uma transfusão de sangue? O que que você vai fazer? Passar pelo Checkpoint Charlie? Amarrar uma nota num tijolo?
– Acho que vou usar um rádio.
– Rádio! O Schneider nem vai deixar você se aproximar de um. Acabaria com ele. Além do mais, mesmo que pudesse se encontrar com ele, Hong-koo é o chato mais atuante que eles têm. Pyongyang mandou-o para lá como um aviso a Seul. Participem das conversas de unificação com os bolsos cheios e o coração magnânimo, ou vão se ver olhando para um rifle. Se tem alguém capaz de uma armação suja como essa, é ele.
– Mas, e se não for, Howard? E se o norte não tiver nada a ver com isso? – Donald segurava o cachimbo apagado na mão direita e chegou mais perto. – Por mais que seja doido, ele tem honra e orgulho. Não ia querer ser responsável nem culpado por uma operação que não foi sua.
– E você pensa que ele vai dizer?
– Talvez não com palavras, mas passei a vida vendo pessoas e ouvindo exatamente o que elas tinham a dizer. Se puder falar com ele, vou saber se está metido nisso.
– E se descobrir que foi ele? E daí? Vai fazer o quê? – Apontou para o cachimbo. – Matá-lo com isso? Ou o Centro deu outras ideias?
Donald pôs o cachimbo na boca.
– Se foi ele, Hcward, vou lhe dizer que matou minha mulher, que acabou com todo o meu futuro e que isso não deverá se repetir com mais ninguém. Irei para lá com os bolsos bem cheios e, com a ajuda de Paul Hood, vou dar um jeito de acabar com essa loucura.
Norbom olhou fixamente para o amigo.
– Quer dizer que está falando sério. Está convicto de que pode ir até lá e fazê-lo enxergar alguma coisa.
– Acredito do fundo do coração. Ou do que ainda restou dele.
O ordenança bateu à porta, entrou com o jantar e pôs a bandeja entre os dois homens. Norbom continuava a olhar para Donald, depois do ordenança ter tirado as tampas de aço e se retirado.
– Libby Hall e quase todo o governo de Seul vão se opor à sua ida.
– A embaixadora não precisa saber.
– Mesmo assim, vão descobrir. O norte vai fazer propaganda assim que você sair, do mesmo jeito que fizeram quando Jimmy Carter foi lá.
– Mas aí eu já vou ter terminado.
– Quer dizer que não está brincando mesmo! – Norbom passou a mão pelos cabelos. – Meu Deus, Greg, tem que pensar muito sobre esse plano. Não é nem um plano, caramba! É uma esperança! Jogar uma cartada dessas pode derrubar qualquer estágio em que estejam as atuais negociações. Pode acabar com você e com o Centro de Operações.
– Já perdi o mais importante. Podem ficar com o resto.
– Vão ficar com tudo isso e mais, acredite. Travar um contato não-autorizado com o inimigo... Washington e Seul vão engolir você, eu, Hood e Mike Rodgers. Vai ser uma derrubada geral.
– Eu sei que vou machucar você, Howard, e não pense que isso não me preocupa. Mas eu não teria vindo lhe pedir, se achasse que não pudesse fazer diferença. Pense no número de vidas que podem ser salvas.
A cor pareceu sumir do rosto marcado do comandante.
– Dane-se, eu faria tudo por você. Mas dediquei toda uma vida profissional a essa base. Se é para eu jogar tudo isso fora, e escrever minhas memórias numa cela três por quatro, quero que pelo menos deixe passar uma noite. Você está ferido e talvez não esteja pensando com a devida clareza.
Donald acendeu o cachimbo.
– Vou fazer mais do que deixar a noite passar, Howard. Vamos terminar de jantar e depois vou visitar a Soonji. Vou ficar com ela por um tempo e, se depois me sentir diferente, eu lhe falo.
O general pegou garfo e faca e começou a cortar seu bife devagar e sem dizer uma palavra. Donald deixou o cachimbo de lado e o acompanhou. A refeição silenciosa foi interrompida apenas por uma batida na porta e a chegada de um homem com uma carranca séria, atrás de um tapa-olho preto e vistoso.
Vinte e Cinco
Terça-feira, 7:35, Centro de Operações
– Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer!
A expressão normalmente passiva e angelical do auxiliar de operações Matt Stoll estava tão pálida quanto um pêssego ainda verde, as bochechas todas vermelhas. Ele gemia enquanto tentava fervorosamente ligar o computador numa bateria reserva que guardava na mesa. Não teria como descobrir por que todo o sistema havia pifado até que conseguisse ligar tudo outra vez e penetrar nos destroços – o que as cobras chamavam, com muito mau gosto, de o sistema de caixa preta que fazia o seu voo ficar seguro.
O suor começava a cair nas sobrancelhas e a respingar nos olhos. Ele piscou, manchando os óculos com o suor. Apesar de só ter decorrido alguns poucos segundos desde a interrupção, Stoll sentia que tinha envelhecido um ano – e mais um ano quando ouviu a voz de Hood.
– Matty!
– Já estou trabalhando – falou rápido, contendo-se para não dizer “mas isso simplesmente não podia acontecer”. Nem devia. Não tinha o menor sentido. A caixa de força principal da Base de Andrews não havia pifado, só os computadores. Era impossível que alguém de fora tivesse feito isso. Tinha que ser um comando no software. A programação do computador do Centro de Operações era autossuficiente, portanto a interrupção teria que vir de um comando introduzido no software. Todos os softwares que chegaram eram testados à procura de vírus e a maioria que encontravam não eram malignos – como um que piscava “Domingo” para dizer aos workaholics para se afastarem dos teclados, ou “Tappy”, que dava um clique a cada tecla que era apertada, ou “Talos”, que congelava os computadores no dia 29 de junho até que a frase “Feliz Aniversário, Talos” fosse digitada. Alguns, como o vírus “Michelangelo”, que apagava todos os dados no dia 6 de março, aniversário do artista, eram mais malignos. Mas esse agora era incrivelmente sofisticado, novo... e perigoso.
Stoll estava tão intrigado quanto surpreso e exasperado por tudo aquilo – mais ainda porque a tela voltou a se acender um momento antes que ele pudesse inserir o plug na bateria.
O computador voltou a funcionar, o disco rígido chiou e a tela do DOS voltou a aparecer, enquanto o Programa de Controle Central feito sob medida entrava em ação. Ficou preso na tela inicial, enquanto a voz sintetizada do Supermouse cantava mecanicamente de um alto-falante no lado da máquina.
– Há outros programas em operação, Matty?
– Não – falou Stoll tristemente, enquanto Hood entrava na sala.
– Quanto tempo você gastou tentando resolver o problema?
– Dezenove segundos ponto oito, oito.
O computador terminou de acessar o programa e a tradicional tela azul apareceu, pronta para entrar em ação. Stoll teclou F5 para checar o diretório.
Hood se inclinou sobre a cadeira de Stoll e olhou para a tela.
– Está voltando...
– Parece que sim. Perdeu alguma coisa?
– Acho que não. O Bugs estava salvando tudo. É bom que esteja funcionando de novo...
– Eu não fiz nada, chefe. A não ser que ficar sentado olhando para a tela seja fazer alguma coisa.
– Está querendo dizer que o sistema voltou a funcionar sozinho?
– Não. Foi instruído para fazer isso.
– Mas não por você.
– Não – disse Stoll, sacudindo a cabeça. – Isso não pode acontecer, Lowell Coffey falou da porta:
– E a Amélia Mary Earhart tinha um mapa.
Stoll ignorou o advogado, enquanto terminava de checar o diretório. Todos os arquivos estavam lá. Selecionou um. Quando viu que não obteve um sinal de erro, sentiu-se mais confiante de que os arquivos não tinham sido destruídos.
– Tudo parece estar bem. Pelo menos, parece que os dados estão intatos. – Seus dedos grossos e rápidos voavam pelo teclado. Stoll tinha preparado um programa PCP como distração, porque achava que nunca iria usá-lo. Agora ele acionava às pressas o arquivo para diagnosticar os Piores Cenários Possíveis no sistema para fazer um check-up. Um exame mais detalhado teria que ser feito depois, utilizando o software confidencial que ele guardava trancado a chave, mas esse programa já devia bastar para localizar qualquer problema maior.
Hood mordeu o lábio inferior.
– A que horas chegou aqui, Matty?
– Bati o ponto às cinco e quarenta e um. Cheguei aqui dois minutos depois.
– O Ken Ogan falou de alguma coisa fora do comum?
– Nada. O turno da noite correu na maior tranquilidade.
– Igual ao mar no dia que o Titanic afundou – comentou Coffey.
Hood pareceu não ouvir.
– Mas isso não quer dizer que alguma coisa não tenha acontecido no prédio. Uma pessoa em qualquer estação pode ter penetrado no sistema.
– É. E nem mesmo hoje. Pode ter sido uma bomba-relógio, instalada há algum tempo e pronta para disparar.
– Uma bomba – pensou Hood. – Como a de Seul.
– Poderia ser um acidente? – perguntou Coffey. – Será que alguém simplesmente não pode ter apertado a tecla errada em algum lugar?
– Isso é quase impossível – disse Stoll, enquanto via a lista de diagnósticos começar a trabalhar. Letras e números começaram a rolar em altíssima velocidade, enquanto verificava qualquer aberração nos arquivos, comandos que não combinavam com os programas existentes ou que não tinham entrado “no horário”.
Hood tamborilou na parte de trás da cadeira.
– Então, o que está querendo dizer é que temos um traidor aqui.
– Provavelmente.
– Quanto tempo precisaria para alguém preparar um programa para pifar todo o sistema?
– Algumas horas ou vários dias, dependendo da competência de quem tenha feito. Mas não quer dizer que o programa tenha sido feito aqui dentro. Pode ter sido preparado em algum outro lugar e transportado para o software.
– Mas isso é uma coisa que vamos verificar...
– O que nós procuramos é algum dedo podre. Basicamente, é o que estou fazendo agora.
– Dedo podre? Quer dizer, alguma coisa que salte aos olhos?
Stoll aquiesceu.
– Marcamos os nossos dados com um código, a intervalos específicos, como um táxi, a cada vinte segundos ou a cada trinta palavras. Se o código não aparecer, verificamos os dados com mais atenção para ter certeza de que seja nosso.
Hood tocou-lhe no ombro.
– Continue com o trabalho, Matty.
Um pouco de suor escorreu no seu ouvido esquerdo.
– Vou continuar, sim. Não gosto de ser nocauteado.
– Enquanto isso, Lowell, mande a segurança começar a revisar todos os vídeos gravados ontem à noite, em todas as estações dentro e fora. Quero saber quem pode ter entrado e saído. Mande ampliar os crachás e comparar com as fotos nos arquivos, para ver se são autênticas. Ponha o Alikas fazendo isso. Ele tem bons olhos. Se não acharem nada de incomum, mande verificar o dia de ontem e depois anteontem.
Coffey brincou com o anel de formatura.
– Vai demorar um pouco.
– Eu sei. Mas alguém nos enganou e é melhor descobrir quem.
Os dois homens saíram assim que Bob Herbert entrou com a cadeira de rodas. O oficial da Inteligência, de 38 anos, estava com raiva, como sempre. Parte devido ao que quer que tivesse dado errado, e os outros 90% se ressentiam do atentado suicida que o condenara à cadeira de rodas.
– O que é que houve, garoto do computador? Ganhamos um bebê? – Sua voz ainda guardava os traços de um garoto do Mississippi, com traços da pressa depois de dez anos de trabalho para a CIA e um ressentimento contínuo pela explosão na Embaixada americana em Beirute, em 1983, que o deixara aleijado.
– Estou checando o grau e o tipo de penetração – disse Stoll, comprimindo os lábios antes que dissesse “Major Dor no Cu”. O Herbert teimoso engolia isso de Hood e de Rodgers, mas de mais ninguém. Especialmente de alguém que nunca tinha envergado um uniforme, participado do Partido da Libertação nos meses de novembro e tinha a mesma importância que ele no Centro.
– Talvez, meu gênio, seja útil saber que não fomos os únicos que levamos a pancada.
– Quem mais?
– Partes do Departamento de Defesa pifaram...
– Por vinte segundos?
Herbert assentiu.
– E o mesmo na CIA.
– Que partes?
– Os departamentos de administração de crises. Todos os lugares para quem mandamos dados.
– Puta merda!
– Bosta de cavalo, isso sim. Pifamos com um bocado de gente e vão querer a cabeça de alguém.
– Merda! – repetiu Matt, voltando-se para a tela, quando a primeira leva de números terminou.
– O primeiro diretório está limpo – cantou o supermouse. – Indo para o segundo.
– Não estou dizendo que você seja o culpado – disse Herbert.
– Se homens capazes não fossem enganados de vez em quando, eu ainda estaria andando. Mas eu preciso que você me consiga algumas informações do ENV.
– Não vou poder fazer isso enquanto o sistema estiver trabalhando nos diagnósticos e eu não posso sair enquanto estiver num arquivo.
– Eu sei. O outro garoto da técnica, o Kent, já me disse. Por isso que eu vim até aqui, para lhe fazer companhia até você pôr o sistema em ação e me dar a informação que eu preciso.
– E qual é a informação que você quer?
– Preciso saber o que está acontecendo na Coreia do Norte. Temos um monte de gente morta com a cara quase dizendo Made in Coreia do Norte, há um avião com uma equipe de ataque indo para lá e o presidente quer saber o que as tropas deles estão fazendo, a situação atual dos mísseis, se alguma coisa está acontecendo nas usinas nucleares, esse tipo de coisa. E nós não podemos fazer isso sem os satélites e...
– Já sei. E para isso precisam dos computadores.
O supermouse falou:
– O segundo diretório está limpo. Indo para o...
– Cancelar – disse Matt e o programa se desligou. Usando o teclado, saiu para DOS, entrou com sua senha para falar on line com o Escritório Nacional de Vigilância, cruzou os braços, esperou e pediu a Deus que, quem quer que tenha invadido os computadores, não tenha sido pelo telefone.
Vinte e Seis
Terça-feira, 7:45, Departamento de Vigilância Nacional
Era um dos departamentos mais secretos e bem-guardados de um dos prédios mais sigilosos do mundo.
O Departamento de Vigilância Nacional, no Pentágono, ocupava uma pequena sala sem qualquer luz vinda de cima. Toda a iluminação saía dos terminais de computadores, dez fileiras bem-organizadas com dez terminais em cada uma delas, dispostos como uma sala de controle da NASA. Eram cem objetivas no espaço olhando a Terra em tempo real, mandando 67 imagens por minuto, ao vivo e preto-e-branco, com vários graus de ampliação, de onde quer que as lentes do satélite estivessem apontadas. Cada imagem era catalogada com precisão de centésimo de segundo, de modo que a rapidez de um míssil ou a carga de uma explosão atômica pudesse ser determinada pela comparação de fotos sucessivas ou com o auxílio de outros dados, como leituras sismográficas.
Cada terminal tinha um monitor de vídeo, um teclado e um telefone logo abaixo, e dois operadores se responsabilizavam por cada fila, teclando novas coordenadas para os satélites espionarem outras regiões, ou fornecerem cópias das imagens para o Pentágono, o Centro de Operações, a CIA ou qualquer dos aliados americanos. Os homens e mulheres que ali trabalhavam eram submetidos a treinamentos e testes psicológicos quase tão meticulosos quanto as pessoas que trabalhavam no controle das bases nucleares americanas. Não podiam se sentir anestesiados pelo constante fluxo de imagens preto e brancas; tinham que ser capazes de dizer em segundos se um avião, um tanque ou um soldado pertenciam ao Chipre, à Ucrânia ou à Suazilândia e tinham que resistir à tentação de verificar como estavam indo as coisas na fazenda dos pais no Colorado, ou na casinha em Baltimore. Os olhos espaciais podiam olhar cada centímetro quadrado no planeta, possuíam força suficiente para ler o jornal de alguém num parque e os operadores tinham que evitar em se distrair com aquilo.
Dois supervisores controlavam a sala silenciosa de dentro de uma cabine de vidro, que ocupava uma parede inteira. Notificavam os operadores dos pedidos vindos dos outros departamentos e rechecavam qualquer mudança na orientação dos satélites.
O supervisor Stephen Viens era um velho colega de faculdade de Matt Stoll. Foram primeiro e segundo lugares na turma do MIT, eram co-proprietários de três patentes de neurônios artificiais para cérebros de silicone, e num tour nacional de shopping centers foram, respectivamente, primeiro e segundo lugares jogando Trevor McFur, do Jaguar. Os executivos da Atari tiveram que aceitar pagar hora extra a Stoll, que jogou por quatro horas depois do horário de fechamento do shopping. A única coisa que não tinham em comum era a paixão de Viens por halterofilismo, que deu às respectivas esposas a ideia dos apelidos: Hardware e Software.
A mensagem eletrônica que Stoll mandara chegou exatamente quando Viens se preparava para comer o seu lanche, café com pãozinho antes das oito horas, quando começava seu plantão.
– Deixa que eu pego – disse ao supervisor noturno Sam Calvin.
Viens rolou a cadeira para a frente do monitor e parou de comer quando leu a mensagem.
Apertador de carajá operando
Mande soft 39/126/400. Cheque alienígena próprio!
– Que o pariu – murmurou Viens.
– Que pasa, Jogo Rápido? – perguntou Calvin. Os supervisores-assistentes do dia e da noite também se aproximaram.
– Apertador de cara? – disse o assistente diurno Fred Landwehr.
– Que isso?
– Do filme Alien, o 8° passageiro. Aquela coisa que incubava bebês alienígenas nas pessoas. Matt Stoll está dizendo que estão com um vírus, o que significa que também pode ter penetrado aqui. Também quer ver Pyongyang. – Viens sacou o telefone. – Monica, dê uma olhada na longitude 39, latitude 126, lente 400, e mande para o Matt Stoll, no Centro. Não copie nada no papel. – Desligou. – Fred, faça um diagnóstico do nosso software. Verifique se está tudo em ordem.
– Devo procurar alguma coisa em especial?
– Não sei. Apenas passe o programa e veja o que o bip apitar.
Viens olhou de volta para o computador e digitou:
Procurando monstro. Dê chute Ripley.
39/126/400 Cópia em disquete.
Depois de enviar a mensagem, olhou para as fileiras de monitores, ainda sem acreditar inteiramente no que acabara de ler. Stoll havia divisado um sistema que ambos julgavam à prova de vírus, tanto quanto fosse humanamente possível. Se tivesse sido adulterado, teria sido uma jogada e tanto. Viens lamentou pelo amigo, mas sabia também que, como ele, Stoll tinha que estar maravilhado com o fato de haverem conseguido... e disposto a ir às últimas consequências.
Vinte e Sete
Terça-feira, 21:55, Seul
O major Lee bateu continência quando entrou na sala do general, e Norbom devolveu o cumprimento.
– Greg Donald – falou – , imagino que conheça o major Kim Lee.
– Conheço, sim – disse Donald, tocando os lábios com um guardanapo. Levantou-se e estendeu a mão ao major. – Há muitos anos, se bem me lembro, estivemos juntos na parada de Taegu.
– Fico honrado e impressionado por se lembrar – respondeu Lee. – Está tratando de algum assunto oficial?
– Não. Particular. Minha mulher... foi morta na explosão de hoje à tarde.
– Meus sentimentos, senhor.
– Que opinião tem sobre a explosão, major? – perguntou Norbom.
– Que a ordem partiu de Pyongyang, talvez do próprio presidente.
– O senhor parece ter muita convicção – disse Donald.
– E o senhor, não?
– Não inteiramente. Nem é isso o que o Kim Hwan, da KCIA, acredita. Os indícios são muito frágeis.
– Mas não a razão – sentenciou Lee. – O senhor está triste, embaixador, e eu não pretendo desrespeitá-lo. No entanto, o inimigo é uma víbora. Troca de pele, mas não de coração. Seja pela guerra, seja lançando as garras no nosso bem-estar econômico, vai continuar tentando nos enfraquecer e nos destruir.
Os olhos de Donald se entristeceram quando ele olhou para longe. Agora, tanto como na década de 1950, o maior obstáculo a uma paz duradoura não era ganância, nem disputas territoriais, nem uma certa indecisão sobre como unificar dois governos distintos. Eram problemas consideráveis, mas não intransponíveis. O maior obstáculo era a suspeita e o ódio sedimentado que boa parte do povo de uma nação sentia pelo da outra. Causava-lhe desgosto pensar que uma verdadeira unificação só poderia acontecer depois que a geração diretamente atingida pela guerra tivesse morrido.
– Isso é da área de Kim Hwan – disse o general. – Por que não deixamos por conta dele, major?
– Sim, senhor.
– Agora me diga por que quis me ver.
– Essa ordem de transferência, senhor. Precisa do seu selo de aprovação.
– Para quê?
Lee passou-lhe o papel.
– Quatro tambores de um quarto de tabun, senhor. Devo levá-los à Zona de Armistício.
O general pôs os óculos.
– E para que diabos o general Schneider precisa desse gás?
– Não é para o general, senhor. A espionagem militar relata que tambores de armas químicas estão sendo enterrados na fronteira e que há outros vindo de Pyongyang. Precisamos levar alguns dos nossos até Panmunjom, para o caso de serem necessários.
– Meu Deus – suspirou Donald. – Eu lhe disse, Howard, isso ainda vai sair de controle.
A expressão de Lee ficou impassível, enquanto se postava rígido ao lado de Donald, olhando para Norbom, que lia.
– Você pediu o gás – disse o general a Lee. – Para quem vai ser entregue?
– Vou ficar com o carregamento, senhor. Tenho ordens do general Sam. – Tirou os papéis do bolso da camisa e passou ao general.
Norbom olhou os papéis com raiva, depois apertou um botão do interfone.
– Atirador.
– Sim, senhor?
– Autorize a transferência do major Lee e telefone ao general Sam.
– Sim, senhor.
Norbom devolveu os documentos ao oficial.
– Só tenho duas coisas a lhe dizer, major. Primeiro, dirija com cuidado. Segundo, se errar em Panmunjom, que seja por excesso de cautela.
– Lógico, senhor – disse Lee, batendo continência, curvando-se levemente para Donald, os olhos parando no diplomata e fazendo-o estremecer inexplicavelmente, antes que se virasse rapidamente e saísse.
O rosto de Lee continuou inexpressivo, mas ele sorria por dentro. O dinheiro e os meses que gastara para convencer o sargento Kil a se juntar a eles estava dando resultado. O ajudante de ordens do general Sam já tinha assinado como seu superior tantas vezes que era impossível distinguir a assinatura falsa da verdadeira. E ele seria o primeiro a receber o telefonema de Norbom, e inventaria mil maneiras de dizer que o general estava fora, até que a memória senil de Norbom se esquecesse, ou fosse tarde demais. De qualquer modo, a equipe de Lee saíra com o que desejara: a chance de concretizar a segunda e mais mortífera fase do plano.
Encontrou seus três homens no caminhão com cobertura de lona, um velho Dodge T214. Os soldados americanos haviam apelidado o veículo de Beep (de “Big Jeep”). Pesava 750kg, com amortecedores fortes e um baixo centro de gravidade, perfeito para um trecho da viagem que fariam em estradas não-asfaltadas.
Os homens saudaram quando Lee se aproximou e subiu no assento do passageiro. Os outros dois sentavam-se atrás, sob a lona.
– Quando deixarmos a base – disse ao motorista – , você vai voltar à cidade, a Chonggyechonno. – Virou-se para trás. – Soldado, o vice-diretor da KCIA não acredita que o inimigo esteja por trás do atentado desta tarde. Por favor, certifique-se de que o sr. Kim Hwan nao vá perpetuar tais inverdades e que amanhã de manhã ele não apareça para trabalhar.
– Sim, senhor. Um ato de Deus?
– Não, nada de acidentes. Vá ao hotel, use trajes civis, arranje uma carteira de identidade e roube um carro da garagem. Descubra como é a cara dele, siga-o e acabe com ele, Jang. De maneira brutal, do jeito que os norte-coreanos mataram os funcionários americanos que apenas podavam árvores. Do jeito que eles mataram dezessete pessoas sem dó nem piedade num bombardeio em Rangoon. Do jeito que mataram a minha mãe. Mostre para eles, Jang, as bestas que os norte-coreanos são e como um mundo civilizado não pode ter lugar para eles.
Jang assentiu, e Lee se recostou no assento para telefonar ao capitão Bock, na Zona de Armistício. No portão, mostrou o documento selado ao sentinela americano, que foi até os fundos do caminhão, devolveu o documento e mandou o caminhão prosseguir. Quando chegaram ao bulevar, Jang saiu da traseira e foi correndo até o Savoy, o hotel onde aquele dia longo e cheio de incidentes havia começado.
Vinte e Oito
Terça-feira, 7:57, Centro de Operações
O telefone de Hood tocou – o que não ocorria com frequência. A maioria de seus comunicados vinha pelo correio eletrônico ou pelas linhas especiais instaladas no terminal.
Mais estranho ainda era que o interfone não tinha anunciado a chamada. O que queria dizer que era alguém com poder suficiente para passar por cima da telefonista principal do Centro.
Ele atendeu.
– Alô?
– Paul, é Michael Lawrence.
– Sim, senhor. Como vai?
– Paul, fui informado de que o seu filho foi internado no hospital, essa manhã.
– Sim, senhor.
– Qual é o estado dele?
Paul franziu a testa. Havia horas para dar boas notícias ao presidente e havia horas para se falar a verdade – o que, no momento, era o caso.
– Não muito bem, senhor. Ainda não sabem exatamente qual é o problema e ele não vem respondendo ao tratamento.
– Lamento muito – disse o Presidente. – Mas, Paul, preciso saber o quanto isso está lhe afetando.
– Senhor?
– Preciso de você, Paul. Preciso de você cuidando da crise na Coreia. Preciso que fique atento e no comando de tudo. Senão, passo o leme a uma outra pessoa. Você é que tem que me dizer, Paul. Quer que eu passe o comando a alguém?
Engraçado. Paul estava pensando exatamente nisso cinco minutos antes, mas agora, depois de ouvir a pergunta diretamente do presidente, não tinha mais a menor dúvida.
– Não, senhor – respondeu. – Eu tomo conta de tudo.
– Muito bem. E... Paul?
– Sim, senhor?
– Mantenha-me informado sobre a saúde do menino.
– Sim, senhor. Obrigado.
Ao desligar o telefone, pensou por um momento, depois teclou F6 para falar com Bugs Benet.
– Bugs – disse – , quando tiver um tempinho, quero que chame um dos nossos tecnogênios. Preciso de uma nova versão para o Mortal Kombat, alguma coisa que realmente levante o Alexander, quando ele sair do hospital.
– Sim, senhor.
Paul sorriu, despediu-se e depois pegou o documento seguinte na fila e voltou ao serviço.
Vinte e Nove
Terça-feira, 22:00, Seul
O prédio moderno, novíssimo, cinza e branco e de quatro andares ficava afastado de Kwangju, reluzindo atrás de um pátio grande e retangular. Se não fosse pela cerca alta e de ferro e pelas cortinas puxadas atrás das janelas, um pedestre pensaria se tratar de uma universidade ou da sede de uma grande empresa. Dificilmente alguém iria suspeitar que aquele era o quartel-general da KCIA, que guardava alguns dos segredos mais caros do Oriente.
O edifício era protegido por câmeras de vídeo do lado de fora, sofisticados sensores de movimento em todas as portas e janelas, e ondas eletromagnéticas para evitar escutas clandestinas. Só ao entrar na recepção fartamente iluminada e dar de cara com duas sentinelas armadas atrás de um vidro à prova de balas é que se tinha uma ideia da delicadeza do trabalho ali realizado.
A sala do vice-diretor Kim Hwan ficava no segundo andar, em frente à sala do diretor Yung-Hoon. Naquele instante, o ex-chefe de polícia jantava na cafeteria do quarto andar com os contatos que tinha na imprensa, para apurar o que sabiam. Hwan e Yung-Hoon tinham métodos diferentes de trabalho, porém complementares. A filosofia de Yung-Hoon era de que as pessoas tinham todas as respostas que os detetives Precisavam, desde que se fizessem as perguntas certas às pessoas certas. Hwan, por sua vez, achava que as pessoas mentiam – intencionalmente ou não – e que a melhor maneira de conhecer os fatos era através de métodos científicos. Cada um admitia a abordagem do outro como perfeitamente válida, embora Hwan não tivesse estômago para o tipo de conversa e sorrisinho que o trabalho de Yung-Hoon exigia. Quando fumava, sua capacidade de aguentar besteira era tão larga quanto um Camel sem filtro. Agora, era ainda menor.
Com a mesa repleta de pastas e papéis, Hwan estudava o laudo que acabara de chegar do laboratório. Pulou a parte com a análise que o professor fazia dos “orbitais híbridos s e p” e da “direção da eletronegatividade” – tais detalhes não eram exigidos pela KCIA, e sim pelos tribunais, caso as provas viessem a ser usadas num julgamento – e foi direto às conclusões:
A análise dos explosivos mostra que são do tipo padrão usado na Coreia do Norte. A composição é típica de uma fábrica de Sonchon.
Não há impressões digitais na garrafa de água mineral. Deveria haver pelo menos impressões parciais de um balconista de loja. Concluímos que a garrafa foi limpa com um pano. Os traços de saliva encontrados nas gotas de água remanescentes não levam a qualquer conclusão.
As partículas de solo em si não dizem nada. Os principais componentes (bauxita e arenito) são comuns em toda a península e não servem para localizar o lugar de origem.
No entanto, um estudo toxicológico revela traços concentrados de sublimação do sal NaCl (Na+ da base NaOH, Cl- do ácido HCl). Isso é comumente encontrado em produtos petrolíferos da Grande Cordilheira Khingan, na Mongólia Interior, inclusive no óleo diesel usado pelas tropas de infantaria da Coreia do Norte. A concentração de 1:1000 NaCl no solo parece rejeitar fortemente a possibilidade de que as partículas tenham sido trazidas pelo vento. Simulações por computador sugerem que uma possibilidade dessa ordem só ocorreria numa chance de 1:5000.
Hwan deixou a cabeça cair pesadamente no encosto da cadeira, de modo que o vento do ar-condicionado pudesse soprar sobre o seu rosto.
– Portanto, os autores do atentado estiveram no Norte. Por que então não seriam norte-coreanos? – Estava começando a pensar que só tinha um jeito de ter certeza, embora relutasse em jogar uma carta tão importante como aquela.
Enquanto relia as conclusões, o interfone tocou.
– Senhor, aqui é o sargento Jin, na recepção. Tem um cavalheiro que deseja falar com o encarregado do atentado no palácio.
– Ele disse por quê?
– Está dizendo que os viu, senhor. Viu os homens que saíram correndo do caminhão de som.
– Segure ele – disse Hwan, ao se levantar de um pulo e apertar o nó da gravata. – Estou indo já para aí.
Trinta
Terça-feira, 8:05, Centro de Operações
Bob Herbert e Matt Stoll ficaram em estado de choque quando as fotos enviadas pelo Departamento de Vigilância Nacional começaram a aparecer no monitor de Stoll.
– Deus do céu – falou Herbert. – Eles estão completamente fora de si.
As fotografias de Pyongyang mostravam tanques e veículos blindados saindo da cidade, com artilharia antiaérea sendo transportada para os campos ao redor da cidade.
– Esses merdas estão se preparando para uma guerra! – disse Herbert. – Mande o DVN dar uma olhada na Zona de Armistício. Vamos ver o que está acontecendo lá.
Pegou o telefone no braço da cadeira de rodas.
– Ligue-me com o chefe, Bugs.
Hood atendeu imediatamente.
– O que conseguiu, Bob?
– Trabalho para você. Pode reescrever o Estudo de Estado-Maior. Temos pelo menos três brigadas de artilharia se dirigindo para o sul da capital da Coreia do Norte e, pelo menos... dá para contar um, dois, três... quatro canhões antiaéreos cercando o perímetro sul.
Seguiu-se um longo silêncio.
– Tire uma hard copy para mim e continue a monitorar a situação. O Matty já descobriu alguma coisa?
– Não.
Mais um longo silêncio se seguiu.
– Chame Andrews e mande que façam um reconhecimento em primeira mão da baía Leste Coreana até a baía de Chungsan, no oeste, a cada duas horas.
– Deve incluir sobrevôos?
– Mike e uma equipe de ataque estão indo para lá. Se os computadores pifarem outra vez e perdermos contato, não quero que cheguem lá às cegas.
– Certo – disse Herbert. – Diga uma coisa, chefe. Ainda pensa que aqueles porras não querem a guerra?
– A Casa Branca ou a Coreia do Norte?
Herbert disse um palavrão.
– A Coreia. Não fomos nós que começamos isso...
– Não, não fomos nós. Mas ainda acho que a Coreia do Norte não quer a guerra. Estão manobrando porque é isso o que acham que vamos fazer. O problema é que o presidente não quer parecer fraco e não pode piscar. E o deles?
Dizendo que ligaria de novo se houvesse qualquer novidade, Herbert praguejou baixinho contra a natureza desconfiada de Hood. Só porque fora o político dos políticos quando era prefeito, consultando todos os assessores e pesquisas de opinião, isso não queria dizer que todo mundo tivesse que ser igual a ele. Herbert não acreditava que o atual presidente arriscaria a vida de jovens americanos só para forjar uma imagem de durão. Se ele não podia piscar, era pela mesma razão por que Ronald Reagan tinha preparado um despertar altamente explosivo para Tripoli, depois de os líbios terem posto uma bomba num bar em Berlim. Se vocês nos machucarem, vamos tirar o sangue de vocês. Ele torcia para que aquele tipo de prática fosse mais comum, em vez de bater num peito vazio na ONU. Ainda torcia para que alguém fosse atrás dos terroristas muçulmanos que lhe privaram do uso das pernas, em 1983.
Ligando para seu assistente, Herbert pediu que o pusesse em contato com o general McIntosh, na Base Aérea de Andrews.
O avião era um Dassault Mirage 2000, construído por encomenda ao governo francês e idealizado para servir de interceptador. Mas aca bou virando um dos mais versáteis aviões em uso, fantástico tanto em missões de ataque em baixa altitude e apoio aproximado como de reconhecimento aéreo. Nesta última atribuição, o avião de 17 metros e com capacidade para dois tripulantes era capaz de voar a velocidades de até Mach 2.2, a 59 mil pés de altitude. E chegava a esses níveis depois de apenas cinco minutos da decolagem. A Força Aérea Americana tinha comprado seis aviões desse tipo para uso na Europa e no Oriente, em parte para cimentar as relações militares com a França, e em parte porque o jato era mesmo espetacular.
O barulho do avião varou o céu noturno, partindo da base americana em Osaka. Aviões para o norte, vindos do sul, tinham que voar mais alto e eram mais fáceis de serem pegos no radar. Aviões vindos do Japão podiam voar baixo, acima do mar, e entrar na Coreia do Norte antes que os militares pudessem responder.
O Mirage atingiu a costa leste da Coreia do Norte 15 minutos depois da decolagem. Enquanto sua turbina M53-2 o lançava numa subida quase vertical, a oficial de reconhecimento Margolin sentou-se atrás do piloto e começou a tirar fotos. Usava uma câmera Leika, com uma teleobjetiva de 500mm, adaptada para visão noturna.
A oficial tinha recebido instruções sobre o que procurar: movimentação de tropas e qualquer atividade em torno das usinas nucleares e dos depósitos químicos. Qualquer coisa parecida com o que o satélite espião do DVN tinha captado nos arredores da capital.
O que ela viu quando o Mirage sobrevoou Pyongyang e rumou para o sudoeste, sobre a baía e em direção ao mar Amarelo, a impressionou. Mandou que o piloto esquecesse o voo rasante de volta, que seria para dar uma segunda olhada. Dispararam na direção do paralelo 38 e, tão logo o ultrapassaram, Margolin quebrou o silêncio e falou por rádio com o comandante da missão.
Trinta e Um
Terça-feira, 22:10, Seul
Donald passou vários minutos de pé, na porta da capela da base, sem conseguir se mover. Via o caixão de pinho e não queria olhar para dentro, até estar certo de que estava preparado.
Tinha acabado de falar com o pai de Soonji ao telefone, que admitira ter ficado preocupado quando viu que a filha não ligara para ele. Sabia que ela tinha ido à comemoração e, sempre que havia algum problema, ela telefonava, de onde quer que estivesse, para avisar que estava tudo bem. Hoje, isso não tinha acontecido. E quando ninguém respondeu ao telefone em sua casa, e não encontrou nenhum registro de entrada em hospital, ele temeu pelo pior.
Kim Yong Nam lidou com o fato do mesmo jeito que lidava com tudo: retraindo-se. Logo após saber da morte de Soonji e de que Donald tencionava enterrá-la nos Estados Unidos, desligara sem sequer falar uma palavra de agradecimento, tristeza ou pêsames. Donald nunca tomara os modos de Kim como algo contra ele, e não esperava uma palavra ou duas – por mais bem-vindas que fossem. Cada um tinha o seu jeito de lidar com a dor e o de Kim era trancar-se em si mesmo, deixando os outros do lado de fora.
Respirando profundamente, Donald forçou-se a pensar na última vez que a vira com vida – não como esposa, não como a Soonji, mas como uma coisa inerte que ele tentara amparar. Ele se preparou, lembrando-se que os agentes funerários eram peritos na arte da sugestão, capazes de transformar os mortos numa visão de paz e saúde – mas sem nunca recriar a vida como nós a conhecíamos. Porém, ele sempre se lembraria de mais do que a morte. Mais do que o corpo estraçalhado e ensanguentado que segurara...
A respiração estava trêmula e as passadas incertas, quando entrou na capela. Grandes velas ardiam de cada lado do caixão, próximo à cabeça, e ele foi até o fim do esquife sem olhar para dentro. Pelo canto do olho, viu o vestido que um soldado fora buscar, o longo de seda branca com que ela se casara. Podia ver o buquê vermelho e branco que lhe colocaram nas mãos, à altura da cintura. Donald é que pedira aquilo. Apesar de Soonji não acreditar que rosas brancas e vermelhas a levassem para junto de Deus, sua mãe, que acreditava em Chondokyo, fora enterrada assim. Soonji talvez não encontrasse Deus, em cuja existência acreditava mais que ele, mas talvez pudesse encontrar a mãe.
Olhando para o caixão, ergueu os olhos lentamente.
E sorriu. Tinham cuidado bem de sua garota. Em vida, Soonji só passava um pouquinho de rouge no rosto e agora só havia um leve toque. Os cílios receberam uma ligeira aplicação de rímel e a pele não estava cheia de pó ou pintura, mas equilibrada, como fora em vida. Alguém devia ter trazido o perfume do apartamento, porque Donald o sentiu ao se aproximar. Donald resistiu ao anseio de tocá-la, porque para os sentidos do olfato e da visão ela estava apenas adormecida... e em paz.
Chorou abertamente quando passou para o lado esquerdo do caixão, não para olhá-la mais de perto, mas para beijar o próprio dedo e com ele tocar a aliança de ouro na mão da mulher, um anel gravado com os nomes deles e com a data do casamento.
Após se permitir tocar a sanfona do vestido, lembrando-se do quanto ela parecia jovem, doce e cheia de vida quando se casaram, Donald saiu da capela mais forte do que entrara, com a razão controlando a raiva que exibira ao general Norbom.
Mas ainda pensava em ir para o norte, com ou sem a ajuda do amigo.
Trinta e Dois
Terça-feira, 22:15, Seul
Quando Kim Hwan entrou na sala de guarda, o sargento na recepção lhe entregou uma carteira de identidade com fotografia. Hwan leu os dados: Nome: Lee Ki-Soo. Idade: Vinte. Endereço: Hai Way, 116, Seul.
– Você conferiu?
– Sim, senhor. O apartamento é alugado por um tal de Shin Jong U, com quem não conseguimos falar. O rapaz diz que mora num quarto alugado e que o sr. U está viajando a negócios. Trabalha numa fábrica da General Motors nos arredores da cidade, mas o departamento de recursos humanos está fechado até amanhã.
Hwan assentiu e, enquanto o sargento se preparava para fazer anotações, o vice-diretor estudou o homem que viera falar com ele. Era pequeno, mas bem musculoso – Hwan podia perceber pelo pescoço e pelos bíceps. Vestia-se com um macacão cinza de operário. Brincava com a boina preta, mudava desconfortavelmente de apoio do pé esquerdo para o direito e se curvou diversas vezes quando Hwan entrou. Seus olhos, porém, nunca saíram do vice-diretor, o que era estranhamente perturbador. Era um olhar duro e sem vida, como os de um tubarão.
Combinação estranha, homem esquisito, pensou. Mas o dia de hoje tinha abalado muitas pessoas e talvez o rapaz fosse uma delas.
Hwan se postou atrás de uma grade circular de metal na cabine.
– Eu sou o vice-diretor Kim Hwan. O senhor pediu para me ver?
– E o senhor o encarregado daquela... coisa horrível?
– Sou.
– Eu os vi. Como já falei para este senhor, vi três homens. Eles se afastavam do caminhão em direção à parte velha da cidade. Levando mochilas.
– Conseguiu ver os rostos deles?
O rapaz sacudiu a cabeça rapidamente.
– Não estava tão perto assim. Eu estava ali fora... – andou de lado para a porta e indicou com o dedo – ... perto dos bancos. Procurava um... sabe como é que é, às vezes eles instalam banheiros públicos. Mas dessa vez, não. E, enquanto estava procurando, eu os vi.
– Tem certeza de que não poderia identificá-los? Cor do cabelo...?
– Preto. Todos os três.
– Barba e bigode? Tamanho de nariz? Boca pequena ou grande? Orelhas saltando para fora?
– Lamento, mas não vi. Como disse, tinha outras coisas na cabeça.
– Lembra-se do que estavam vestindo?
– Roupas. Quer dizer, roupas comuns de rua. E botas. Acho que estavam de botas.
Hwan olhou um momento para o homem.
– Mais alguma coisa?
O rapaz sacudiu a cabeça.
– O senhor concordaria em assinar uma declaração a respeito do que viu? Poucos minutos bastam para preparar.
O rapaz sacudiu a cabeça vigorosamente e cobriu rapidamente a pequena distância até a porta.
– Não, senhor, não poderia fazer isso. Eu não estava de folga quando fui à cerimônia, portanto foi uma escapada. Eu queria estar lá, entende? Mas se o meu chefe souber, vou ser punido...
– Eles não precisam saber – disse Hwan.
– Lamento. – Pôs a mão na porta. – Eu queria lhe passar a informação, mas não desejo me envolver. Espero que tenha sido útil, mas, por favor, agora eu tenho que ir.
Com isso, o homem abriu a porta e saiu correndo na escuridão. Hwan e o sargento se entreolharam.
– Parece que andou bebendo cerveja demais antes de vir, senhor.
– Ou talvez não tenha bebido o bastante – disse Hwan. – Pode bater isso para mim e me passar sem assinatura? Ali havia algumas informações úteis.
Pelo menos, confirmou alguns dados que já havíamos deduzido no beco. Por um momento, chegou a pensar na ideia de seguir o rapazinho, mas decidiu que seus homens seriam mais bem utilizados onde estavam, interrogando outras testemunhas, conferindo fotografias, fitas de vídeo e procurando pistas no hotel abandonado e no local da explosão.
Subindo as escadas – recusava-se a andar de elevador enquanto tivesse tempo e energia – , Hwan voltou à sua sala para pensar no que fazer em seguida.
Quando o diretor voltasse, não ia ficar satisfeito com o andamento das investigações: indícios fracos apontando para a Coreia do Norte, mas nenhuma pista quanto aos autores do atentado.
Depois de usar o rádio para se comunicar com o pessoal no trabalho de campo – e descobrir que não tinham achado nada – , Hwan decidiu que, para conseguir provas rapidamente, ia ter que utilizar um expediente que detestava, um expediente que poderia fazê-lo tanto perder quanto ganhar.
Relutantemente, pegou o telefone...
Trinta e Três
Terça-feira, 22:20, Kosong, Coreia do Norte
Viajando a uma velocidade média de 200 quilômetros por hora, o suave e moderno Lake LA-4-200 Buccaneer, de quatro lugares, voava baixo sobre o mar, rumo ao litoral da Coreia do Norte, o motor Lycoming 0-360-A1A, que equipava o avião, roncando, enquanto o piloto mantinha o avião na rota. Tão perto do solo (menos de mil pés de altitude e voando cada vez mais baixo), o ar era mais turbulento e o piloto não queria fazer um pouso forçado. Não com aqueles dois a bordo. Passou um lenço sobre a fronte suada, tentando não pensar no que eles poderiam fazer se ele tivesse que pousar a oitenta quilômetros da costa.
O avião, de oito metros de cumprimento, sacolejou quando ficou abaixo dos 150 metros – mais rápido do que o normal, devido à corrente de ar, mas menos do que ele gostaria. Agora já era possível visualizar a linha da costa e o piloto sabia que não teria tempo de fazer uma segunda tentativa. Os passageiros tinham que estar em terra às oito e meia e ele não ia decepcioná-los. Nem por um segundo.
Também não deixaria mais que o seu querido amigo Han Song lhe arranjasse voos clandestinos. Filhos querendo entrar para ver os pais, ou mesmo espiões do sul, eram uma coisa. O jogador dissera que aqueles dois passageiros eram empresários, mas não falou que o negócio deles era assassinato.
Ele tocou com o casco do avião, em forma de barco, com um leve tranco, a água batendo nos dois lados do avião, enquanto freava fortemente. Queria desembarcar os homens e manobrar o avião antes que comissários ou pescadores curiosos fossem lá para bisbilhotar.
Destrancou a porta e a abriu; dava para ver todo o interior da cabine, pegando o bote no assento do co-piloto, ele o pôs na água, enquanto os homens na cabine se levantavam. O piloto esticou o braço para ajudar o primeiro a descer. O assassino pegou no braço do piloto e olhou para o relógio fosforescente.
– Nós... conseguimos! – falou o piloto.
– Trabalhou bem – disse o criminoso, enquanto o parceiro passava ao seu lado e descia para o bote. Tirou um pacote do sobretudo e passou para o piloto um maço de notas. – Conforme acertado com o seu agente.
– Certo. Obrigado.
Então pôs a mão no bolso, tirou o estilete ensanguentado e o segurou na frente dele. O coração do piloto batia com tanta força que teve certeza de que era ele, e não o motor, que estava fazendo o avião balançar. O assassino riu, ergueu o braço de repente e atirou o canivete na água. O piloto se descontraiu tão rápido que perdeu o equilíbrio e desabou na cadeira.
– Desejo uma boa noite – disse o criminoso, enquanto virava para ir se juntar ao amigo no bote.
Passaram-se vários minutos até que o piloto se sentisse suficientemente calmo para taxear de volta para o mar. Aquela altura, os passageiros já tinham desaparecido na escuridão.
Os homens foram guiados à terra pela luz sinalizadora de um soldado na praia. A maré estava baixa e eles chegaram em poucos minutos, um esvaziando o bote enquanto o outro pegava as malas e caminhava para dois jipes estacionados à sombra de um penhasco.
– Coronel Oko? – disse o recém-chegado.
– Coronel Sun – cumprimentou o outro, curvando-se. – Chegou cedo.
– Nosso piloto não via a hora de se livrar de nós. – Sun olhou Para o soldado armado ao lado dos jipes. – Tem os uniformes, os documentos e... o pacote?
– Está tudo no jipe. Quer ver pessoalmente?
Sun sorriu e pôs as malas na areia.
– O major Lee confia no senhor. – O sorriso se alargou. – E, acima de tudo, nós temos uma meta comum. Continuar inimigos.
– Não preciso de guerra para isso.
– O senhor não é político, coronel. Não precisamos nos lembrar do que já está no sangue. O senhor quer conferir o dinheiro?
Oko sacudiu a cabeça e mandou o ajudante pegar a mala.
– Para ser franco, coronel, mesmo que não houvesse reembolso pelas propinas que pagamos, valeria a pena.
Curvando-se de novo para o coronel Sun, Oko subiu no jipe e não olhou para trás enquanto dirigia pela estrada íngreme, de terra batida, rumo às montanhas.
O ajudante de ordens do coronel Sun, cabo Kong Sang Chul, aproximou-se enquanto os via indo embora.
– E depois dizem que o norte e o sul não conseguem se entender em nada.
Dez minutos depois, vestindo os uniformes de um coronel da Coreia do Norte e seu ordenança, e tendo conferido o pacote para ver se estava tudo em ordem, os sul-coreanos seguiram pela mesma estrada, dirigindo-se a um lugar assinalado em vermelho no mapa que havia na pasta de documentos.
Trinta e Quatro
Terça-feira, 8:40, Centro de Operações
– Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer!
– Mas aconteceu, rapaz. Aconteceu.
Stoll e Herbert estavam na mesa de reuniões do Tanque, com Hood e o resto da equipe principal do Centro de Operações, com exceção de Rodgers que ainda seria informado. Ann Farris sentava-se à direita de Hood, Stoll e Herbert a seu lado e Lowell Coffey II, à esquerda do diretor. Do outro lado da mesa, estavam Martha Mackall, Liz Gordon e o assessor para meio ambiente Phil Katzen. Darrell McCaskey estava sentado entre Gordon e Katzen, e acabara de passar a Hood um resumo de uma página das atividades da Liga do Céu Vermelho e outras organizações terroristas. Aparentemente, nenhuma delas estava envolvida na explosão de Seul.
Em cima da mesa, defronte a Hood, estavam o resumo de McCaskey e a fotografia que o DVN mandara exibindo considerável movimentação de tropas perto de Pyongyang. Junto estava o instantâneo tirado por Judy Margolin, do Mirage, que acabara de chegar. Não mostravam nenhuma saída de tanques, nem artilharia ao redor da cidade, ou qualquer situação que indicasse que a Coreia do Norte estava se preparando para uma guerra.
– Que conclusões você tira dessa discrepância, Matty? Além de “isso não pode acontecer”.
O corpulento assessor de apoio operacional suspirou amargamente.
– Os marcos principais são os mesmos em ambas as fotos, portanto não é uma questão de erro no direcionamento do satélite, que poderia ter tirado fotos de lugares diferentes. As duas são da capital Pyongyang.
– Pedimos ao DVN para mandar uma foto atualizada – disse Herbert – e eu confirmei o pedido através de um telefonema. A foto no monitor mostra uma progressão natural das manobras vistas na primeira fotografia.
– Manobras que provavelmente não estão acontecendo – sentenciou McCaskey.
– Certo.
– E então, Matty? – indagou Hood. – Tenho uma reunião marcada na Casa Branca em meia hora. O que vou dizer ao presidente?
– Que há algum tipo de furo no software. Um furo como nunca se viu antes.
– Um furo! – vociferou Herbert. – Num magnífico computador de vinte milhões de dólares que você bolou?
– É isso aí! Às vezes, os gênios se esquecem de pensar em algum detalhe, do mesmo modo que caminhões cheios de bombas às vezes passam por barricadas de concreto! – Stoll se arrependeu do que disse no exato instante em que as palavras saíam de sua boca. Comprimiu os lábios e se afundou na cadeira.
– Beleza, Matt – disse Coffey, para quebrar o tenso silêncio.
– Desculpe, Bob – pediu Stoll. – Foi mal.
Herbert o fuzilou com o olhar.
– Tem toda razão, rapaz. – Seus olhos baixaram para o assento da cadeira de rodas.
– Escutem – disse Liz – , todos nós estamos sujeitos a erros. Mas podemos lidar melhor com eles se nos ajudarmos mutuamente, em vez de ficarmos culpando uns aos outros. Além disso, rapazes, se é assim que nos comportamos no primeiro estágio de uma crise, é melhor repensarmos os nossos métodos de trabalho.
– Tem razão – disse Hood. – Continuemos. Matty, tente dizer, da melhor maneira possível, com o que é que nós estamos lidando.
Stoll suspirou com mais força ainda. Evitou olhar para Herbert.
– A primeira coisa que me veio à cabeça quando os computadores pifaram foi que aquilo era algum tipo de demonstração. Alguém tentando nos mostrar que, de alguma forma, penetrara no sistema e poderia fazer isso de novo. Eu até achava que íamos receber algum tipo de chantagem pelo correio eletrônico, quando o sistema voltou a funcionar.
– E não recebemos – disse Coffey.
– Não, não recebemos. Mesmo assim, achei que havia algum vírus no programa original, ou talvez que algum vírus tenha vindo com um software, saindo daqui para o Departamento de Defesa e para a CIA, ou vice-versa. Aí chegou a foto de Osaka e é aí que eu acho que fomos invadidos.
– Explique isso melhor – pediu Hood.
– A paralisação foi algum tipo de cortina de fumaça ou camuflagem para encobrir o verdadeiro objetivo, que aparentemente foi o comprometimento do nosso sistema de vigilância por satélites.
– Vindo do espaço? – perguntou Coffey.
– Não, da Terra. Há alguém controlando pelo menos o satélite Geostationary 12-A... talvez até mais.
– O presidente vai adorar – retrucou Coffey.
Hood deu uma olhada na contagem regressiva, e depois a cara de Bugs, na tela do computador.
– Pegou isso?
– Sim, senhor.
– Ponha no fim do Estudo de Estado-Maior, com o seguinte... – olhou para Stoll – nosso assessor de apoio operacional está tratando do problema e garante que ele será identificado e solucionado Estimativa de tempo. Enquanto isso, o Centro de Operações vai trabalhar sem computadores, já que não podemos confiar nos próprios dados. Vamos depender da espionagem aérea, dos agentes colocados em postos-chave e dos projetos de simulação de crise. Assinado etc. Pode imprimir, Bugs. Estarei aí num minuto. – Hood se levantou. – Como é mesmo aquela frase que você gosta tanto, Matty? “Faz assim”? Então, faz assim. Esse sistema deveria ser à prova de invasões. Foi isso que ajudou o presidente a vender o Centro de Operações ao Congresso, mais ou menos um ano e duzentos e cinquenta milhões de dólares atrás. Quero que esse invasor seja encontrado e morto, e o furo tapado. – Olhou para o louro assessor de meio ambiente. – Phil, não acredito que precisemos do seu departamento neste ponto. Você tem mestrado em informática. Poderia trabalhar com o Matty nessa questão?
Os olhos azuis de Phil foram de Hood para o relógio regressivo.
– Com o maior prazer.
Stoll se retesou, mas não disse nada.
– Bob, telefone para o Gregory Donald na base em Seul. Ele perdeu a mulher na explosão, mas veja se está em condições de ir até a Zona de Armistício e fazer um reconhecimento de primeira mão. Não podemos mais confiar nos satélites e eu preciso de alguém nosso no local. E até que isso pode fazer bem a ele.
– Ele parecia muito triste antes – observou Martha. – Portanto, vá com calma.
Herbert assentiu.
– Depois, eu queria que comentasse com Rodgers – disse Hood. – Diga-lhe para continuar por conta própria, discretamente. Se o Rodgers estiver a fim – e acredito que esteja – , mande a equipe dele fazer um relato sobre os mísseis Nodong na região da cordilheira do Diamante.
Herbert aquiesceu mais uma vez e saiu com a cadeira da mesa, ainda claramente ressentido com o que Stoll falara.
Hood apertou a campainha e saiu, seguido por Herbert e os demais membros da equipe.
Stoll caminhou com raiva pelo corredor até sua sala, com Phil Katzen correndo para se manter no mesmo passo.
– Lamento ele ter dito aquilo, Matty. Eu sei que não há muita coisa em que eu possa ajudar.
Stoll resmungou algo que Phil não conseguiu entender. Ele não estava certo se queria entender na verdade.
– As pessoas não compreendem o quanto se avança a partir dos nossos próprios erros.
– Isso não foi um erro – disparou Stoll. – É uma coisa que nunca se viu antes.
– Estou sabendo. Me faz lembrar quando o meu irmão completou 45 anos, largou a mulher e o emprego que tinha na Nynex e decidiu sair andando pelo mundo. Disse que era uma mudança em seu estilo de vida, e não uma crise de meia-idade.
Stoll estacou.
– Phil, hoje eu vim trabalhar e fui atingido por uma coisa equivalente a um asteróide cretáceo. Sou um apatossauro lutando pela vida e você não está ajudando em nada. – Voltou a andar.
Phil continuou atrás dele.
– Então talvez isso ajude. Quando eu estava escrevendo minha tese sobre caça às baleias pelos soviéticos, estive numa missão de resgate do Greenpeace no mar de Okhotsk. Não deveríamos estar lá, mas não importa. Descobrimos que os soviéticos tinham uma maneira de criar falsas imagens sonares usando radiotransmissores na água. Nós captávamos um eco e saíamos correndo para proteger um cardume que nem sequer existia, enquanto os caçadores matavam as baleias longe dos nossos radares.
Os dois homens entraram na sala de Stoll.
– Isso não é um rádio sonar, Phil.
– Não. E não é isso o mais importante no que estou contando. Começamos a juntar gravações em vídeo das imagens para comparações futuras e descobrimos que, quando os transmissores eram ligados, havia um disparo de energia quase imperceptível.
– Um disparo inicial. Isso é comum.
– Certo. O problema é que o sinal tinha uma espécie de impressão digital, uma assinatura que podíamos conferir antes de sair correndo para proteger as baleias. Aqui, os computadores pifaram por quase vinte segundos. Você disse que era uma cortina de fumaça e pode estar com a razão. Mas enquanto eu olhava para a contagem regressiva no Tanque, percebi que há um olho que não teria piscado.
Stoll se sentou no lado da mesa.
– O relógio do computador.
– Exatamente.
– E em que isso ajuda? Sabemos de que horas a que horas ocorreu a pane.
– Pense só numa coisa. O satélite continuou a captar as imagens, mesmo não conseguindo retransmiti-las para a Terra. Se pudéssemos comparar uma imagem do instante anterior à pane a uma do instante posterior, poderíamos saber o que fizeram com o sistema.
– Teoricamente. Seria preciso sobrepor duas fotografias de cada vez e compará-las para procurar pequenas alterações.
– Do mesmo jeito que os astrônomos procuram asteroides se movendo em direção a um campo estelar.
– Certo – disse Stoll – e levaria um tempão para comparar dezenas de imagens pixel por pixel. Nós nem podemos contar com os computadores para compará-las para nós, já que foram programados para não notar certos artefatos.
– É exatamente essa a questão. Nós não precisamos dos computadores. Tudo o que precisamos fazer é analisar um grupo de fotos anteriores e posteriores. É por isso que eu mencionei o relógio do computador. Ele não teria pifado, mesmo que um vírus tivesse nos invadido. Mas seria preciso uma fração de segundo para uma imagem falsa substituir uma imagem verdadeira.
– É... É isso! – disse Stoll. – Caramba, é isso! E iria aparecer na hora marcada nas fotos. Em vez de chegar..., quanto é mesmo?, a cada 0,89 segundos, ou coisa assim... haveria um atraso infinitesimal na hora que o primeiro ovo podre tenha sido colocado.
– E esse atraso apareceria na parte de baixo da fotografia.
– Phil, você é um gênio – Stoll esticou o braço e pegou a calculadora que estava na mesa. – Muito bem. As fotografias são tiradas a intervalos de 0,8955 segundos. Quando encontrarmos uma que tiver um atraso de um milésimo de segundo, vamos estar diante da primeira falsificação.
– Exatamente. Tudo o que temos a fazer é pedir ao DVN para fazer uma checagem regressiva até atingirem o momento da discrepância.
Stoll voou para a cadeira, ligou para Steve Viens e explicou a situação. Enquanto esperava Viens fazer a checagem, Stoll abriu a gaveta da escrivaninha, tirou uma bandeja cheia de disquetes de diagnóstico e começou a conferir a operação interna do sistema.
Trinta e Cinco
Terça-feira, 8:55, Centro de Operações
Bob Herbert fervia por dentro, ao rolar a cadeira até o escritório. Sua boca estava amarrada, o rosto franzido, os dentes trincados e as sobrancelhas finas puxadas para o centro. Estava zangado, em parte porque Stoll não tivera o menor tato para dizer o que disse, mas também porque, no fundo do coração, Herbert sabia que ele estava certo. Não havia diferença entre o rombo no software e a falha na segurança que ele ajudara a planejar – fazia tudo parte da mesma merda. Não havia como evitar, por mais que se tentasse.
Liz Gordon também tinha razão. Rodgers um dia citara Benjamin Franklin, dizendo basicamente que devíamos todos nos unir, ou que ficaríamos todos desunidos. O Centro de Operações precisava funcionar daquela maneira, o que já era bastante difícil. Ao contrário das Forças Armadas, da NASA, ou de qualquer organização onde as pessoas viessem de um passado ou tivessem formação semelhante, o Centro era um amálgama de talentos, formações, experiências e idiossincrasias. Não era certo esperar e, pior, contraprodutivo, que Stoll se comportasse como alguém que não fosse ele mesmo.
Você vai acabar tendo um derrame...
Herbert se esgueirou para trás da escrivaninha e travou as rodas. Sem pegar o fone, digitou o nome da base militar americana em Seul. O número principal e as linhas diretas apareceram num visor retangular abaixo do teclado. Herbert passou os números apertando a tecla *, parou no número do general Norbom, tirou o telefone do gancho e teclou # para fazer a ligação. Tentou pensar em alguma coisa para dizer a Donald, uma vez que também tinha perdido a esposa Yvonne, sua companheira na CIA, na explosão em Beirute. Mas as palavras não eram o seu forte. Só espionagem. E amargura.
Herbert queria tanto poder relaxar, só um pouquinho, mas não era possível. Já tinham se passado quase 15 anos desde a explosão. A imagem de tudo que havia perdido ainda o atormentava, diariamente, embora tivesse se acostumado à cadeira de rodas e a ser o pai solteiro de uma garota de 16 anos. O que não tinha passado com o tempo, o que continuava desgraçadamente tão vivo como em 1983, era o puro azar de tudo aquilo. Se Yvonne não tivesse dado uma passada para lhe contar uma piada que vira na fita do Tonight Show, ela ainda estaria viva. Se ele nunca tivesse comprado aquela fita do Neil Diamond e ele não estivesse se apresentando na televisão naquela noite e ela não tivesse pedido à irmã para gravar...
Era tudo que precisava para fazer seu coração afundar e sua cabeça girar cada vez que pensava no assunto. Liz Gordon lhe dissera que era melhor não remoer aquilo, evidentemente, mas isso não o ajudava. Ele continuava a pensar no momento em que fora à loja de discos pedir qualquer coisa que eles tivessem do cantor que escrevera aquela música sobre a luz que vem do coração...
O ordenança do general Norbom atendeu o telefone e informou a Herbert que Donald acompanhara o corpo da mulher até a Embaixada americana para providenciar o transporte para os Estados Unidos. Herbert localizou o número de Libby Hall e fez a ligação.
Meu Deus, como ela gostava daquela música estúpida. Por mais que tivesse tentado interessar a mulher por Hank Williams, Roger Miller e Johny Horton, ela continuava a procurar Neil Diamond, Barry Manilow e Engelbert.
A secretária de Hall atendeu e passou a chamada para Donald.
– Bob – disse ele – , que bom ouvir você.
A voz de Donald parecia mais forte do que esperava.
– Como é que você está, Greg?
– Como um Jó.
– Eu já passei por isso, meu amigo. Sei o que você está sentindo.
– Obrigado. Sabe mais alguma coisa do que aconteceu? Estão dando duro na KCIA, mas ainda não chegaram a nada.
– Nós, é... também estamos com um probleminha, Greg. Parece que os computadores foram violados. Não confiamos nos dados que estamos recebendo, nem nas fotos dos satélites.
– Parece que alguém fez seu trabalho direitinho.
– Fez, sim. Agora, nós sabemos perfeitamente como está se sentindo e, com o próprio Deus segurando a Bíblia, eu juro que vou entender se você se recusar. Mas o chefe quer saber se você iria até a Zona de Armistício para dar uma olhada na situação em primeira mão. O presidente colocou o chefe no comando da Força-tarefa coreana e ele precisa de gente de confiança no local.
Houve um rápido silêncio, antes que Donald respondesse:
– Bob, se conseguir todas as autorizações até o general Schneider, estarei à sua disposição para ir para o norte dentro de duas horas. E razoável?
– Claro que é – disse Herbert. – Vou providenciar as autorizações e um helicóptero. Boa sorte, Greg, e Deus te abençoe.
– Deus te abençoe também.
Trinta e Seis
Terça-feira, 23:07, Zona de Armistício
A Zona de Armistício entre as Coreias do Norte e do Sul ficava 55km ao norte de Seul e 160km ao sul de Pyongyang. Foi instituída com a trégua de 27 de julho de 1953 e, desde então, soldados de ambos os lados passaram a olhar seus oponentes com medo e desconfiança. Atualmente, um total de um milhão de soldados estavam postados nos dois lados, a maioria alojados em barracas modernas e com ar-condicionado. As barracas eram dispostas em fila e ocupavam aproximadamente duzentos acres, começando a menos de trezentos metros de cada lado da fronteira.
A zona era demarcada do nordeste ao sudoeste por uma cerca de três metros de altura nos dois lados, com um metro de arame farpado em cima. Entre as cercas havia uma área de aproximadamente sete metros de largura, que corria de costa a costa – a Zona de Armistício propriamente dita. Soldados com rifles de longo alcance e pastores alemães patrulhavam o perímetro em ambos os lados. Uma única estrada cortava a Zona, com largura suficiente para apenas um veículo. Até a visita de Jimmy Carter a Pyongyang, em 1994, nenhuma pessoa jamais tinha atravessado a Zona e ido à capital norte-coreana. O contato direto entre os dois lados ocorria num edifício de um só andar, parecido com as barracas. Havia uma porta de cada lado, com dois guardas ao lado delas e uma bandeira à esquerda dos guardas. Do lado de dentro ficava uma longa mesa de reunião que, como a própria construção, demarcava nitidamente a fronteira entre o norte e o sul. Nas raras vezes em que havia reuniões, os representantes do norte e do sul ficavam nos seus respectivos lados da sala.
Bem para leste da última barraca do lado sul-coreano, um cerrado se estendia sobre pequenos morros, pontuado de bosques aqui e ali. Os militares faziam manobras além dos morros. Apesar de dificilmente serem vistos do norte, o barulho dos tanques e da artilharia, especialmente durante a noite, podia ser comprometedor.
Um dos bosques, de cerca de vinte metros de largura, ficava numa depressão rochosa a cerca de oitocentos metros da Zona de Armistício Era uma área minada que o capitão Ohn Bock inspecionava pessoalmente pelo menos duas vezes por dia. Ali, apenas sete semanas antes, forças sul-coreanas haviam construído um túnel de 1,20m de diâmetro. Sem que a Coreia do Norte soubesse, o túnel permitia que o sul espionasse as atividades no complexo de túneis que os inimigos haviam escavado sob a Zona de Armistício. O túnel da Coreia do Sul não se comunicava diretamente com os da Coreia do Norte. Detetores de som e movimento foram instalados nas paredes do túnel para informarem sobre espiões que entrassem clandestinamente no sul a partir de um alçapão escondido sob uma rocha e arbustos a quatrocentos metros dali. Tais espiões eram então seguidos e suas identidades passadas à Espionagem Militar e à KCIA.
Conforme planejado, o capitão Bock tinha marcado sua inspeção noturna de modo a coincidir com a chegada de seu amigo de infância, o major Kim Lee. O capitão e um ajudante chegaram pouco depois de Lee. Eles já descarregavam os tambores de armas químicas. Bock bateu continência para o superior.
– Fiquei feliz com o seu telefonema – disse Bock. – Esse deve ter sido um grande dia para você.
– Que ainda não acabou.
– Soube que alguns corpos foram descobertos na barca e que o piloto do hidroavião chegou na hora prevista. A parte do coronel Sun, aparentemente, parece estar indo também conforme o planejado.
Nos dois anos em que o conhecera e no ano que passou desde o início da atual operação, Bock nunca vira o major mostrar um único traço de emoção. E isso era ainda mais verdade agora. Enquanto de outro homem poderia esperar um sinal de alívio com o que havia realizado, ou expectativa pelo que estava por vir – o próprio Bock se sentia cada vez mais ansioso à medida que a hora se aproximava – Lee demonstrava uma calma sobrenatural. Sua voz sonora era macia, os movimentos não tinham sinal de pressa e seus modos estavam um pouco mais reservados do que o normal. E era ele quem iria entrar na toca, e não Bock.
– Já preparou tudo para a vigilância desta noite?
– Sim, senhor. Koh, um dos meus homens, está nos monitores. É o meu gênio da informática. Vai fazer com que o equipamento de vigilância não registre nada até o senhor voltar.
– Excelente. Eu espero agir às oito horas da manhã.
– Vou estar aqui à sua espera.
Com uma rápida continência, o capitão se virou, subiu no jipe e voltou ao seu posto e ao trabalho de analisar os relatórios vindos da Zona de Armistício e mandá-los para Seul. Se tudo corresse bem, depois daquela noite estaria passando tropas em revista, e não documentos, como preparativo para rechaçar um ataque do norte.
Trinta e Sete
Terça-feira, 9:10, Washington
Com o disquete e a hardcopy do relatório de alternativas na pasta preta, Hood correu até o carro, no estacionamento subterrâneo do Centro. Dentro do carro, usou um par de algemas para prender a pasta ao cinto e trancou as portas (também andava com um.38 no coldre do ombro sempre que transportava documentos secretos). Depois, saiu do estacionamento inserindo o seu passe no portão. A sentinela identificou o cartão visualmente e marcou a hora da saída em outro computador. O processo era virtualmente idêntico ao que todos os empregados passavam no andar de cima. Só o código era diferente do andar superior e a suposição era de que a segurança podia ser enganada uma vez, mas dificilmente duas.
O que não faz lá muita diferença, raciocinou Hood, já que temos alguém invadindo os computadores sem sequer chegar perto daqui.
Descrente em relação à tecnologia, Hood tinha pouca noção de como as coisas funcionavam. Mas estava extremamente interessado em saber o que tinha acontecido naquela manhã. Stoll era o melhor de sua área. Se alguma coisa conseguira passar por ele, seria digna de entrar para a história.
Ao sair da estrutura de concreto e se dirigir para o portão da Base de Andrews (um terceiro e último posto de controle, só para a identidade), pegou o telefone. Chamou a telefonista, pediu o número do hospital e teclou. Transferiram-no para o quarto do filho.
– Alô.
– Sharon... oi. Como é que ele está?
Ela hesitou.
– Eu estava esperando você ligar.
– Desculpe. Nós tivemos um... problema. – O telefone não era seguro e ele não podia falar mais. – Como é que vai o Alex?
– Está num balão de oxigênio.
– E as injeções?
– Não adiantaram. Os pulmões dele estão cheios demais de líquido. Precisam controlar a respiração até ele... se desintoxicar.
– Os médicos estão preocupados?
– Eu estou.
– Eu também. Mas o que é que eles estão achando, meu amor?
– Estão fazendo o procedimento padrão. Mas as injeções também eram procedimento padrão e não adiantaram.
Merda. Olhou o relógio e amaldiçoou Rodgers por estar ausente. Que diabo de trabalho era aquele em que ele tinha de escolher entre estar junto do filho doente ou se reunir com o presidente – e ficara com esta última opção. Pensou no quanto aquilo perderia a importância se alguma coisa acontecesse a Alexander. Porém, seu trabalho de hoje afetava a vida de milhares de pessoas, talvez dezenas de milhares. Não tinha escolha a não ser terminar o que já havia começado.
– Eu vou ligar para o dr. Trias no Walter Reed e pedir para ele ir dar uma olhada. Ele vai providenciar para que seja feito tudo o que for possível.
– E ele vai segurar a minha mão, Paul? – perguntou a mulher, desligando.
– Não – disse Hood para o sinal de ocupado. – Não vai.
Repôs o fone no gancho. Apertou a borda do volante até o braço doer, furioso por não poder estar lá, mas também infeliz porque Sharon cobrava além da conta. No fundo do coração, ela sabia que, por mais que gostasse dela e Alex e quisesse estar no hospital, não havia muito o que fazer. Ele sentaria lá, tomaria a mão dela por uns minutos, depois iria andar de um lado para o outro e, fora isso, seria totalmente inútil... tanto quanto nos dias que os filhos nasceram. A primeira vez em que tentara ajudá-la a respirar durante as contrações, ela gritou para que saísse correndo dali e chamasse uma enfermeira. Fora uma lição importante: aprendeu que quando uma mulher quer você, não significa que está precisando de você.
Mas se ele pelo menos não se sentisse tão culpado... Soltando um palavrão, apertou o botão-viva-voz, ligou para o Centro e pediu a Bugs para conectá-lo com o dr. Orlito Trias, no Hospital Walter Reed.
Enquanto esperava, e dirigia pelo trânsito da manhã, Hood praguejou contra Rodgers mais uma vez – embora soubesse que, na verdade, não o culpava por nada. Afinal, por que o presidente o destacara para aquele posto? Não era simplesmente porque fora um zagueiro de futebol que podia entrar e ganhar o jogo. O fato é que Rodgers era um soldado tarimbado – que fazia o papel de voz da experiência em situações como aquela – um combatente veterano e antigo com um profundo respeito por soldados, estratégias e guerra; um homem que mantinha a forma física andando em meio à rotina do escritório por uma hora, todas as tardes, recitando o Poema de El Cid em espanhol arcaico, quando não estava trabalhando – e às vezes quando estava. É claro que um homem assim ia querer estar na frente de batalha com a equipe que tinha ajudado a montar. Uma vez general, sempre general. E o próprio Hood não incentivara sempre as pessoas a pensarem com independência? Além disso, se Rodgers não fosse tão impetuoso, seria o segundo-secretário de Defesa – cargo que realmente almejava – e não o número dois do Centro, que era só um prêmio de consolação.
– Bom dia. Consultório do dr. Trias.
Hood aumentou o volume.
– Bom dia, Cath. É Paul Hood quem está falando.
– Dr. Hood! O doutor sentiu a sua falta na reunião da Sociedade Nacional Espacial, ontem à noite.
– A Sharon tinha alugado Quatro casamentos e um funeral e eu não tive lá muita escolha. Ele está?
– Lamento, mas está dando uma palestra em Georgetown hoje de manhã. Quer deixar recado?
– Quero. Diga a ele que o Alexander, meu filho, teve um ataque de asma e está na ala pediátrica. Queria que ele fosse lá dar uma olhada, se tiver tempo.
– Vai ter, sim. Dê um abraço no seu filho em meu nome, quando estiver com ele. Ele é um amor.
– Obrigado – disse Hood, desligando o telefone.
Ótimo, pensou. Fantástico. Não conseguia nem achar o médico.
Hood pensou e logo descartou a ideia de pedir a Martha Mackall que fosse à Casa Branca em seu lugar. Embora respeitasse sua capacidade, não tinha certeza absoluta se ela iria representá-lo e ao Centro, ou se aproveitaria a oportunidade para promover seus próprios interesses. Ela tinha vindo da vida dura do Harlem e aprendido a falar espanhol, coreano, italiano e iídiche enquanto pintava letreiros para lojas em toda a ilha de Manhattan. A seguir, estudou japonês, alemão e russo na faculdade, enquanto obtinha um mestrado em economia, com bolsa integral. Como dissera a Hood em sua primeira entrevista com ele, aos 49 anos ela queria sair do escritório do secretário-geral da ONU e continuar a tratar diretamente com espanhóis, coreanos, italianos e judeus – só que definindo a política e não simplesmente como porta-voz. Se ele a contratasse para recolher, conservar e analisar um conjunto de informações sobre os principais agentes políticos e econômicos de todos os países do mundo, deveria ficar bem longe e deixá-la trabalhar. Ele a contratara porque tinha o tipo de mentalidade independente que ele queria a seu lado na hora de ir para a guerra, mas não iria lhe passar o comando até ter certeza de que as suas ambições não tivessem prioridade sobre o Centro.
Enquanto corria pela Pennsylvania Avenue, Hood refletiu sobre o fato de estar mais propenso a aceitar as falhas de Rodgers com mais facilidade do que as de Martha... ou da própria esposa. Martha chamaria aquilo de discriminação sexual, mas não era bem o caso. Era uma questão de altruísmo. Se um dia lhe desse na telha de mandar Rodgers saltar de paraquedas em Little Rock, depois voltar para Washington e ficar em seu lugar, ele obedeceria sem fazer perguntas. Se passasse uma mensagem para o pager Orly, ele sairia da palestra no meio da frase. Com as mulheres, parecia sempre ser um jogo.
Sentindo como se tivesse dois pés esquerdos, Hood chegou ao portão da Casa Branca, um dos dois que protegiam o estreito caminho que separava o Salão Oval e a Ala Oeste do antigo escritório do Executivo. Mostrando o passe, estacionou em meio aos carros e bicicletas e, com a pasta na mão, apressou-se para o encontro com o presidente.
Trinta e Oito
Terça-feira, 23:17, mar do Japão, a vinte quilômetros de Hungnam, na Coreia do Norte
A política da maioria dos países comunistas em relação a mar territorial era que os limites estabelecidos pelos tratados internacionais não se aplicavam a eles. Que o limite não era de três milhas, mas 12, ou até 15, nos lugares mais patrulhados pelas tropas inimigas.
A Coreia do Norte há muito tempo sustentava que suas águas territoriais se estendiam pelo mar do Japão adentro, um direito contestado tanto pelo Japão como pelos Estados Unidos. Barcos de patrulha rompiam regularmente essa reivindicação, navegando a quatro ou cinco milhas da costa norte-coreana, por vezes sendo interpelados. Quando eram, não costumavam se aproximar mais, porém tampouco se retiravam. Por mais de quarenta anos, foram poucos os confrontos. O incidente mais famoso fora a apreensão do navio americano Pueblo pela Coreia do Norte, em janeiro de 1968, e a acusação de que os marinheiros eram espiões. Foram necessários dez meses e 29 dias de negociações até que a tripulação de 82 homens fosse liberada. O incidente mais grave aconteceu em julho de 1977, quando um helicóptero americano perdeu-se sobre o paralelo 38 e foi derrubado, causando a morte de três homens. O presidente Carter pediu desculpas à Coreia do Norte, reconhecendo que os homens estavam errados. Os três corpos e o único sobrevivente foram devolvidos.
Depois de uma breve escala em Seul para entregar o filme, a oficial de reconhecimento Judy Margolin e o piloto Harry Thomas já estavam prontos para voar novamente sobre a Coreia do Norte. Desta vez, no entanto, eram evidentemente esperados e foram captados pelo radar de vigilância e acompanhamento quando sobrevoavam Wonsan. Dois interceptadores aéreos MiG-15P entraram rapidamente na zona de ataque, um vindo baixo, do norte, e o outro, alto, do sul. Harry esperava serem perseguidos em direção ao litoral e sabia que podia ir muito mais rápido do que eles se estivesse apontado na direção certa.
Levantando o nariz, ele começou a manobrar, subindo e ao mesmo tempo acelerando. Perdendo os aviões russos temporariamente de vista, voltou a localizá-los quando um dos canhões duplos NS-23, de 23 mm, do MiG, acertou a fuselagem a estibordo. O poc-poc-poc alto se parecia com balões estourando e o pegara totalmente de surpresa.
Apesar do barulho do motor, ouviu Judy gemer no microfone e, pelo canto do olho, viu quando ela se afundou no assento. Terminando a manobra, inclinou o avião em direção ao sul e continuou a acelerar.
– Está tudo bem, senhor?
Sem resposta. Aquilo era uma loucura. Tinham atirado neles sem ao menos mandar um alerta. Aquilo não só era contra o procedimento de quatro etapas usado pela Coreia do Norte em combate aéreo (com o contato ocorrendo no primeiro estágio), mas também a primeira leva de tiros devia ser dirigida por baixo da aeronave – longe da direção para a qual o avião estaria voando, uma vez localizado. Ou o atirador coreano era ruim de mira, ou então recebera instruções muito perigosas.
Quebrando o silêncio no rádio, Thomas mandou um sinal de socorro a Seul e disse que estava retornando com um tripulante ferido. Os MiGs o acompanharam até o sul, sem atirar até o deixarem, no momento em que iniciou a retirada com velocidade Mach 2.
– Aguente firme, senhor – disse sem retirar a máscara, sem saber se a oficial de reconhecimento estava viva ou morta, e o avião cortava a noite iluminada pelas estrelas.
Trinta e Nove
Terça-feira, 8:20, no C-141 sobre o Texas
Rodgers tinha que tirar o chapéu para o tenente-coronel Squires. Ao destacar aquele jovem de 25 anos da Força Aérea para liderar a equipe de ataque, dissera a ele para planejar a ofensiva tirando páginas de todos os livros militares que prestassem. E foi exatamente o que ele fez.
Enquanto estava sentado com o fichário no colo, viu manobras e táticas de batalha que instintivamente reproduziam planos de Júlio César, Wellington, Rommel, os Apaches e outros estrategistas de guerra, bem como os atuais planos americanos. Sabia que Squires não obtivera uma educação formal nesse sentido, mas o rapaz tinha talento para movimentação de tropas. Talvez de tanto jogar futebol quando menino, na Jamaica.
Squires dormia a seu lado ou lhe teria dado uma cutucada nas costelas e dito o que achava da manobra de um pequeno batalhão contra uma grande frente de ataque inimigo. Quando voltasse, ia passar aquilo ao Pentágono: devia ser o procedimento padrão para um batalhão ou regimento que tenha sofrido muitas baixas. Em vez de montar um cinturão operacional num terreno de defesa, organizava-se um pequeno segundo batalhão e mandava-se o primeiro em manobra de flanco para pegar o inimigo no fogo-cruzado. O que era novo – e fantástico – era a maneira como Squires movia o segundo batalhão para a frente, sobre o terreno defensivo, de modo a empurrar o inimigo para a linha de fogo pesado.
Squires também tinha um plano magnífico para atacar uma instalação de comando e controle, com uma ofensiva contra os quatro lados da zona de lançamento: uma frontal, uma de cada lado e uma por trás.
O praça Puckett passou em volta do tenente-coronel e bateu continência. Rodgers tirou os fones de ouvido.
– Senhor! Chamada no rádio para o general!
Rodgers devolveu a continência e Puckett passou-lhe o transmissor. Não sabia ao certo se o ambiente ficara mais silencioso ou se ele é que tinha ensurdecido, mas pelo menos o barulho dos quatro enormes reatores, que pareciam um terremoto, não estava mais tão ruim quanto antes.
Repôs um plug no lugar e apertou o fone contra a outra orelha.
– Rodgers falando.
– Mike, aqui é Bob Herbert. Tenho novidades para você. Talvez não seja o que esteja esperando.
Bem, foi bom enquanto durou, pensou Rodgers. De volta ao lar.
– Vocês vão entrar – disse Herbert.
Rodgers ficou alerta imediatamente.
– Pode repetir?
– Vão entrar na CN. O DVN está com um problema na vigilância por satélite e o chefe precisa de alguém para dar uma espiada na base dos mísseis Nodong.
– Na cordilheira do Diamante? – perguntou Rodgers, cutucando Squires, que acordou no mesmo instante.
– Bingo!
– Os mapas da Coreia do Norte – disse ao tenente-coronel, depois voltou ao telefone com Herbert. – O que aconteceu com os satélites?
– Ainda não sabemos. O sistema inteiro enlouqueceu. O tecboy pensa que é um vírus.
– Alguma novidade no front diplomático?
– Negativo. O chefe está neste momento na Casa Branca, e eu vou ter mais informações quando ele voltar.
– Não deixe a gente sem informações – disse Rodgers. – Estaremos em Osaka antes do jantar, hora de Washington.
– Não vamos esquecer de vocês – disse Herbert, depois se despediu.
Rodgers devolveu o telefone a Puckett e olhou para Squires. Tinha achado o mapa no laptop. Seus olhos claros estavam ansiosos.
– Essa agora é real – disse o general. – Nossa missão é conferir os Scuds da Coreia do Norte.
– Só conferir?
– É tudo o que o homem disse. A não ser que a guerra já esteja declarada antes de chegarmos a Osaka, não vamos entrar com explosivos. Se for o caso, acredito que eles nos usem para coordenar um bombardeio aéreo.
Squires virou a tela de modo que Rodgers pudesse ver. Pediu a Puckett para desatarrachar a lâmpada sobre eles, para que o general pudesse ler sem o reflexo.
Enquanto olhava o mapa, notou a rapidez com que seu humor e suas expectativas tinham mudado. Passaram da complacência e do respeito acadêmico pelo trabalho de Squires a um estado de alerta e uma percepção de que as vidas da equipe dependeriam daqueles planos e do resto da preparação de Squires. Tinha certeza de que os mesmos pensamentos – e algumas dúvidas – também passavam pela cabeça do tenente-coronel.
O mapa, de apenas seis dias, mostrava três mísseis Nodong montados num caminhão, numa cratera entre quatro morros no sopé da cordilheira. Havia plataformas de artilharia móvel cercando o perímetro, no morro, fazendo com que um voo rasante fosse muito arriscado. Ele afastou o mapa para a esquerda, para ver mais do lado ocidental. O mapa mostrava as instalações do radar em Wonsan.
– É muito apertado – falou Squires.
– Justamente o que eu estava pensando. – Rodgers usou o cursor para indicar uma rota. – O helicóptero vai ter que decolar de Osaka, para sudeste, e partir para o litoral bem em cima da Zona de Armistício. Parece que o melhor lugar é ao sul do monte Kumgang. Isso vai nos deixar a cerca de 15 quilômetros do alvo.
– Quinze quilômetros montanha abaixo – disse Squires. – E 15 montanha acima na hora de sermos resgatados.
– Certo. Não é uma boa estratégia de retirada, especialmente se houver uma tropa atrás de nós.
Squires indicou os Nodongs.
– Eles ainda não têm a bomba nessas instalações, ou têm?
– Apesar de todo o rebuliço na imprensa, ainda não chegaram lá, tecnologicamente – disse Rodgers, estudando o mapa – , embora uma carga de cem quilos de TNT em cada Nodong fizesse um estrago e tanto em Seul.
Comprimiu os lábios.
– Acho que já sei, Charlie. Não vamos partir do local que pousarmos, mas de uns oito quilômetros mais para o sul, onde o inimigo nunca iria esperar.
Um dos olhos claros se fechou, apertado.
– Como é que é? Vamos dificultar as coisas para nós?
– Não, vamos facilitar. O segredo da retirada não é sair correndo, mas lutar e depois andar. No começo do século II, durante a primeira campanha de Trajano, a legião de infantaria de Roma travou uma batalha contra um número muito menor de dácios ao pé dos montes Cárpatos. Eram as estafetas e as flechas de Roma contra lanças e peitos nus, mas quem ganhou foram os dácios. Eles penetraram à noite, pegaram os romanos de surpresa e depois os levaram até as montanhas, onde foram obrigados a se espalhar. Quando isso aconteceu, os legionários foram pegos pelos inimigos que lutavam em duplas. Com eles mortos, os dácios puderam, literalmente, andar com calma de volta para seu acampamento.
– Mas isso era no tempo das lanças, senhor.
– Não interessa. Se formos localizados, vamos guiá-los e usar as facas. O oponente não se arriscaria a usar armas de fogo à noite, nas montanhas, ou então podem começar a matar os próprios companheiros.
Squires olhou para o mapa.
– Os montes Cárpatos não parecem ser o ambiente natural dos romanos. O inimigo provavelmente conhecia o terreno tão bem quanto os norte-coreanos conhecem a terra deles.
– Tem razão – disse Rodgers. – Por outro lado, nós temos uma coisa que os dácios não tinham.
– Um Congresso esperando cortar nosso orçamento?
Rodgers sorriu e apontou para uma pequena bolsa preta que vinha carregando.
– OEBC.
– Perdão, senhor?
– Uma coisa que eu e o Matty Stoll inventamos. Falo dele depois que terminarmos de fazer nossos planos.
Quarenta
Terça-feira, 23:25, Seul
Kim Chong se perguntou se eles tinham entendido a mensagem.
Já tocava piano no bar de Bae Gun há 17 meses, mandando recados para homens e mulheres que de vez em quando passavam por ali – observada, como bem sabia, na maioria do tempo, por agentes da KCIA. Uns eram impetuosos, outros bonitos, alguns atarracados, todos desempenhando bem os papéis de empresários bem-sucedidos, modelos, operários e soldados que tinham de representar. Mas Kim sabia quem eles realmente eram. O mesmo talento que a tornava capaz de decorar partituras musicais também possibilitava que ela memorizasse feições, risos ou sapatos característicos. Por que é que agentes secretos, que se davam tanto trabalho de mudar de roupa, maquiagem e cabelo, continuavam usando os mesmos sapatos, ou tinham a mesma maneira de segurar o cigarro ou de atacar os amendoins no pratinho? Até o sr. Gun percebera que o sujeito tipo artista descuidado que vinha de vez em quando tinha o mesmo mau hálito crônico do praça sul-coreano que aparecia uma vez por semana.
Se vai desempenhar um papel, tem que desempenhá-lo por inteiro.
Essa noite, a mulher em quem tinha posto o apelido de Pequenina Eva estava de volta. Esbelta, diluía seus drinques com bastante gelo. Era uma pessoa tipo saúde, obviamente não acostumada a beber, uma mulher que não afogava as mágoas sozinha, mas sim bebericando o uísque, enquanto vigiava de perto, com olhos e ouvidos, a pianista.
Kim decidiu lhe dar algo em que pensar.
Ela passou de The worst that could happen para Nobody does it better Kim sempre usava temas de filmes para mandar recados. Tocou a primeira nota do segundo compasso, um “C”, uma oitava mais baixa do que constava na partitura. Trinou o “A” abaixo do dó central no terceiro compasso, depois tocou todo o vigésimo compasso sem usar os pedais.
Qualquer um que conhecesse bem a música notaria as discrepâncias. O “C” e o “A” estavam errados e um compasso-pedal correspondia a uma letra do alfabeto: no caso, a vigésima, ou a letra “T”.
Tinha soletrado CAT para a KCIA e se perguntou se eles teriam entendido. Não havia nenhum índice de frequência de letras, nada que um analista de códigos pudesse tomar como uma substituição regular ou cifra de transposição. Kim viu seu companheiro Nam sair, e Eva também percebeu. A agente da contra-espionagem, porém, não foi atrás dele. Talvez outro tenha ido. Nam disse que nunca tinha visto alguém segui-lo até em casa, mas era velho e meio cego e, quando vinha ao bar, bebia a maior parte do que a pianista lhe pagava. Ela bem que podia imaginar o contorcionismo que a KCIA tinha que realizar para imaginar como é que Nam e outros contatos mandavam as mensagens dela.
Era quase uma vergonha ganhar dinheiro para fazer aquilo – tanto dinheiro do norte, quanto um salário para tocar ali. Se estivesse em sua cidade natal, Anju, ao norte de Pyongyang, levaria uma vida de rainha.
Se eu estivesse de volta para casa...
Quem poderia dizer quando isso iria acontecer? Depois do que fizera, tinha sorte de ainda estar viva. Mas um dia ela voltaria, quando tivesse dinheiro o bastante, ou estivesse farta do sul hipócrita, ou soubesse alguma coisa do paradeiro de Han.
Terminou de tocar a música de James Bond e passou para uma versão livre de Java. A música de Al Hirt era a sua preferida, a primeira que se lembrava de ter ouvido quando criança, e ela tocava toda noite. Volta e meia pegava-se pensando se a KCIA achava que aquela música tinha alguma coisa a ver com o seu código: se a seguinte é que trazia a mensagem, ou que talvez houvesse alguma informação escondida no rápido improviso que fazia com a mão direita, na segunda parte da canção. Não podia sequer imaginar o que os cérebros da espionagem em Chonggyechonno estavam pensando. E, no momento, não dava a mínima.
Ba-da da-da da-da...
Fechou os olhos e acompanhou com os lábios. Onde quer que estivesse, o que quer que estivesse fazendo, Java sempre a transportava ao tempo em que era um bebê cuidado pela mãe e por Han, o irmão bem mais velho. O marido de sua mãe, pai de Han, morrera na guerra, e a mãe não tinha a menor ideia de que soldado de passagem era o pai de Kim – nem mesmo se ele era coreano, russo ou chinês. Não que isso tivesse alguma importância: ela amaria a filha da mesma forma, e de algum jeito a comida tinha que chegar à mesa. E, depois que acharam a caixa cheia de discos de 45 rotações roubados no sul, a mãe costumava botar Java numa antiga vitrola a manivela e ficavam dançando no pequeno barraco, sacudindo o telhado de zinco e assustando as galinhas e o bode. Então veio o padre que tinha um piano, viu Kim cantar e dançar e achou que ela talvez gostasse de tocar...
Houve um rebuliço na boate e ela escancarou os olhos. A Pequenina Eva se levantou, enquanto dois homens bem apessoados, de terno e rostos sérios, entravam pela porta da frente e outros dois chegavam pela porta da cozinha, atrás de uma passagem coberta de contas à esquerda de Kim. Imóvel a não ser pelo pé direito, Kim estendeu a ponta do dedo e alcançou a trava das rodinhas que mantinham o piano no lugar. Quando viu a Pequenina Eva olhando para ela e soube por que os homens haviam chegado, pôs-se de pé e empurrou o piano com o lado mais longo em direção à passagem adornada, bloqueando-a. A Pequenina Eva e os outros homens tinham que passar pelas mesas, o que dava a Kim alguns segundos de vantagem.
Agarrando a bolsa, Kim correu até os banheiros que ficavam do outro lado do bar. Entrou no banheiro dos homens, incrivelmente calma e concentrada. Os seis meses de treinamento na Coreia do Norte tinham sido rápidos, mas eficientes. Aprendera a planejar e seguir pelas rotas de fuga com cuidado, e a manter dinheiro e várias armas bem escondidas.
A janela do banheiro masculino ficava sempre aberta e, subindo na pia, Kim se esgueirou por ela. Uma vez do lado de fora, livrou-se da bolsa após tirar o canivete que mantinha ali.
Kim se achava no pequeno pátio nos fundos do bar. Estava cheio de bancos quebrados, utensílios jogados fora e era cercado por uma imensa cerca de madeira. Escalando a fileira de latas de lixo, com os gatos pulando em todas as direções, segurou a faca entre os dentes e pôs as mãos no alto da madeira. Quando estava prestes a pular a cerca, um tiro acertou a cerca a poucos centímetros de seu braço esquerdo. Ela estacou.
– É melhor parar para pensar, Kim!
Seu estômago se encolheu quando reconheceu a voz. Virou-se e viu Bae Gun ali, de pé, segurando a Smith & Wesson.32 automática que usava para proteger o bar e o dinheiro, e que ainda soltava fumaça. Kim ergueu os braços.
– A faca... – ele pediu.
Kim cuspiu o canivete.
– Seu filho da puta!
Dois outros agentes vieram correndo por trás dele, portando armas. Foram até ela e, enquanto um a ajudava a descer das latas de lixo, o outro puxava-lhe os braços às costas e a algemava.
– Não precisava ajudá-los, Bae! Que mentiras que eles andaram espalhando a meu respeito?
– Nenhuma, Kim. – A luz que vinha da janela do banheiro enchia a sua cara e ela o viu sorrir. – Eu já sabia de tudo a seu respeito desde o início, do mesmo jeito que sabia sobre o antigo cantor e o barman que trabalhava aqui antes dele. O meu chefe, vice-diretor Kim Hwan, me mantém bem informado sobre os espiões que chegam da Coreia do Norte.
Com os olhos em chamas, Kim não sabia se devia xingá-lo ou cumprimentá-lo enquanto era levada, meio que andando, meio que tropeçando, até o carro que a esperava na rua.
Quarenta e Um
Terça-feira, 9:30, Casa Branca
Hood ainda se lembrava da primeira vez que estivera no Salão Oval da Casa Branca. Foi quando o antecessor do presidente Lawrence convocara os prefeitos de Nova York, Los Angeles, Chicago e Filadélfia para ver o que podiam fazer para evitar conflitos de rua. O gesto, cujo objetivo era mostrar preocupação com as cidades do país, acabou tendo o efeito contrário, com o presidente sendo acusado de racismo ao prever que os negros poderiam gerar rebeliões.
O ex-presidente era um homem alto, como Lawrence, e, embora nenhum deles estivesse aparentemente à altura do cargo, pareciam um tanto grandes demais para o tamanho da mesa e de sala.
Era uma sala pequena, sob todos os aspectos, e ficava ainda menor com a presença da mesa e da cadeira enormes, e pelas levas de assessores de alto escalão que vinham e voltavam aos escritórios executivos do outro lado do hall. A mesa, ao lado da janela, era feita de pranchas de carvalho que um dia foram da fragata inglesa Resolute e tomava 25% do Salão Oval. A cadeira giratória, de couro, também era maior que o normal, destinada não só para o conforto, mas também para a proteção do presidente. O encosto era forrado com quatro camadas de Kevlar, o tecido à prova de bala criado para proteger o chefe de Estado de eventuais tiros vindos de fora da janela panorâmica. Fora projetada para suportar o impacto de uma Magnum.348, à queima-roupa. A mesa em si não tinha espaço para bagunça. Havia um mata-borrão, um porta-canetas, uma foto da primeira-dama e do filho e o telefone STU-3, cor de marfim.
Em frente à mesa ficavam duas poltronas bem-acolchoadas, datando do tempo de Woodrow Wilson. Hood sentava-se numa delas e o assessor de Segurança Nacional Steve Burkow, na outra, bem longe do seu império, o espaçoso Conselho de Segurança Nacional, do outro lado do looby e com acesso através de uma porta dupla sob o pórtico. O diretor do Centro passou-lhes duas cópias do Estudo de Estado-Maior, que eles leram rapidamente. Desde que Hood tinha falado sobre a quebra de segurança no DVN e no Centro, o presidente não estava a fim de perder tempo.
– Tem alguma coisa que não esteja aqui? – perguntou Burkow.
– Alguma coisa extra-oficial?
Hood detestava aquele tipo de pergunta. Claro que sempre havia. Operações clandestinas estavam sempre em andamento. Já existiam muito antes de Ollie North supervisionar a troca de armas por reféns, não deixaram de ocorrer depois que suas atividades vieram à tona e continuariam a acontecer no futuro. A diferença é que os presidentes não ficavam com o mérito, nem em particular, no caso das operações bem-sucedidas. E, se elas fracassassem, pessoas como Hood eram publicamente castigadas.
Burkow, o covarde, gostava de ouvir. Gostava de ver os funcionários admitirem que estavam fazendo algo ilegal, só para que ele ou o presidente mostrassem que estavam agindo por conta própria. Fazia-os lembrar quem era o presidente e quem era o primo e maior assessor de confiança.
– Colocamos no ar uma missão de reconhecimento há uma hora para compensar a perda da vigilância por satélite e despachei uma equipe de ataque minutos após a explosão. E um voo de 12 horas e eu queria que estivessem lá, caso sejam necessários.
– “Lá” significa...
– A Coreia do Norte.
– Sem uniformes?
– Sem uniformes, nem qualquer tipo de identificação nas armas.
Burkow olhou para o presidente.
– Qual o perfil da missão? – perguntou o assessor.
– Mandei a equipe penetrar nas proximidades da cordilheira do Diamante e relatar a situação dos mísseis Nodong.
– Mandou os 12 homens?
Hood assentiu. Não chegou a falar que Mike Rodgers era um deles; Burkow teria um troço. Se capturassem o comando, Rodgers, um herói de guerra, era famoso o suficiente para ser identificado.
– Essa conversa nunca ocorreu – disse Lawrence, como era de se esperar, e fechou o relatório. – Portanto, a Força-tarefa recomenda que continuemos manobrando devagar e com constância até estarmos certos de que a Coreia do Norte foi responsável pela explosão. E mesmo se o governo ou um de seus representantes for responsável, só deveremos exercer pressões diplomáticas, sem, no entanto, menosprezar o lado militar. Tudo isso, evidentemente, partindo do pressuposto de que não haverá novos atos de terrorismo.
– Exatamente, senhor.
O presidente tamborilou com os dedos no relatório.
– Quanto tempo ficamos discutindo com os palestinos sobre aqueles terroristas do Hezbollah que atacaram o Hollywood Bowl? Seis meses?
– Sete.
– Sete meses. Paul, já fomos violentados muitas vezes desde que assumi a Presidência, e eu continuo mostrando a outra face. Isso tem que acabar.
– O embaixador Gap telefonou agora há pouco – disse Burkow – e manifestou seus pêsames da maneira mais formal possível. Não disse nada que garantisse não serem eles os responsáveis.
– Martha disse que eles são assim mesmo – falou Hood. – E embora eu não discorde da necessidade de uma ação decisiva, temos de ter certeza de que vamos atacar o alvo certo. Vou repetir o que diz o relatório: não percebemos qualquer atividade militar fora do comum na Coreia do Norte, ninguém assumiu a autoria do atentado e, mesmo que certas facções norte-coreanas fossem as responsáveis, isso não quer dizer que o governo deles esteja envolvido.
– Por outro lado, também não estão livres de responsabilidade – sentenciou o presidente. – Se o general Schneider começasse a dar tiros para o outro lado da Zona de Armistício, duvido que Pyongyang viesse me perguntar se eu aceitaria que eles revidassem. Paul, se você me desculpa, agora eu tenho uma reunião com o...
O STU-3 tocou e o presidente atendeu. Seu rosto escureceu enquanto ouvia, calado. Passados vários instantes, agradeceu ao interlocutor e disse que ligaria mais tarde. Depois de desligar, pousou a cabeça nas mãos apoiadas na mesa.
– Era o general McLean, do Pentágono. Agora sim, Paul, ocorreram atividades militares fora do comum na Coreia do Norte. Um MiG deles atirou num dos nossos aviões de espionagem, matando a oficial de reconhecimento.
Burkow falou um palavrão.
Hood perguntou:
– Será que não foi um tiro de alerta que saiu errado?
O presidente o fuzilou com o olhar.
– De que lado você está, caramba?
– Senhor presidente, estávamos no espaço aéreo deles...
– E não vamos nos desculpar por isso! Vou dar instruções ao porta-voz para dizer aos repórteres que, à luz do que aconteceu esta tarde, temos que incrementar a segurança na região. A reação descabida da Coreia do Norte simplesmente confirma as nossas preocupações. Também vou dar ordem ao general McLean para que, às dez da manhã, as forças americanas na região passem a Defcon 3. Ponha os seus amigos em Seul para trabalhar, Paul, e faça com que o Departamento de Defesa prepare um relatório atualizado para o meio-dia de hoje. Peça por fax. Você é valioso demais para ficar correndo de um lado para o outro, – Pegou o Estudo de Estado-Maior e o jogou no lixo. – Steve, diga ao Greg que eu quero que a CIA vire tudo de cabeça para baixo até achar o responsável pela explosão. Não que isso seja lá muito importante. Se o norte não estava metido nisso, Paul, agora está até o nariz!
Quarenta e Dois
Terça-feira, 23:40, Seul
O carro da funerária seguia para o sul, na direção do aeroporto, por rodovias cheias de transporte militar partindo para o norte, para longe de Seul.
Sentado no banco de trás da Mercedes da embaixadora, comboiando o carro fúnebre, Donald notou o aumento na movimentação de tropas para fora da cidade. Considerando-se o que Bob Herbert dissera ao telefone, só podia significar que o clima estava esquentando entre os dois governos. Não era de se surpreender. Do jeito que estavam perto da Zona de Armistício, estados de prontidão eram tão comuns em Seul quanto as fitas de vídeo piratas. Mesmo assim, um nível tão alto de movimentação não era comum. O número de soldados transportados sugeria que os generais não queriam muita gente num lugar só, temendo um ataque da Coreia do Norte com mísseis.
Por enquanto, Donald se sentia alheio àquilo tudo. Estava fechado num casulo de dois carros de comprimento e poucos anos de largura, preso à realidade da esposa à sua frente que ele nunca mais veria. Não neste mundo. O carro fúnebre era iluminado pelos faróis da Mercedes e enquanto seu olhar se perdia na cortina preta do vidro traseiro, perguntou-se se Soonji ficaria satisfeita ou irritada de andar num carro oficial... especialmente aquele. Lembrava-se de como Soonji fechara os olhos depois que ele lhe contara a história, como se o gesto, de algum modo, pudesse afastar de si a realidade...
O Cadillac preto era usado pelas embaixadas americana, britânica, canadense e francesa em Seul e ficava nesta última, quando não era usado. O uso comum de carros fúnebres oficiais não era novidade, embora um incidente internacional quase tivesse ocorrido em 1982, quando os embaixadores da Inglaterra e da França perderam parentes inesperadamente na mesma tarde e pediram o carro à mesma hora. Como os franceses é que o mantinham na garagem, achavam que deveriam ser os primeiros a usar. Os ingleses, por sua vez, sustentavam que, como o embaixador francês perdera uma avó e o inglês, um pai, o parentesco mais próximo deveria ter prioridade. Os franceses argumentaram que seu embaixador era mais ligado à avó do que o embaixador britânico ao pai. Para acabar com a briga, ambos os embaixadores contrataram casas funerárias avulsas e o carro oficial não foi usado naquele dia.
Donald sorriu quando se lembrou do que Soonji dissera, com os olhos ainda apertados:
– Só no corpo diplomático é que uma guerra e a reserva de um carro têm o mesmo valor.
E era verdade. Não havia nada tão pequeno, pessoal ou macabro que não pudesse se transformar num incidente internacional. Foi por isso que ficara tão tocado – e achava que Soonji também se sentiria assim – quando o embaixador Clayton, da Inglaterra, telefonou-lhe na Embaixada para lhe dar as condolências e dizer que as embaixadas não iam utilizar o carro para as vítimas que tiveram na explosão daquele dia, até que ele o liberasse.
Ele se recusou a afastar os olhos do carro funerário, embora sua mente exausta voasse num fluxo de consciência, lembrando-se da última refeição que tivera com a mulher, da última vez que fizeram amor, da última vez que a vira se vestir. Ainda podia sentir o gosto do batom, o cheiro do perfume, suas longas unhas acariciando-lhe a nuca. Então pensou na primeira vez que se sentira atraído por Soonji, não por sua beleza ou sua pose, mas pelas palavras – inteligentes e incisivas. Lembrava-se de uma conversa que ela tinha tido com uma amiga que trabalhava para o embaixador Dan Tunick, que então deixava o cargo. Quando o embaixador terminara o seu discurso para os funcionários, a amiga dissera:
– Ele parece tão contente...
Soonji observou o embaixador por um instante e disse:
– O meu pai também ficou com essa cara quando expeliu um cálculo renal. O embaixador está com cara de quem está aliviado, Tish, e não feliz.
Acertara na mosca, do seu jeito direto e irreverente. Enquanto as pessoas bebiam champanha, ele foi até ela, se apresentou, contou a história do carro funerário e ficou apaixonado antes mesmo dos olhos dela se abrirem. Agora, sentado ali, sem chorar, mas com a cabeça cheia de recordações, consolou-se com o fato de que, na última vez em que vira Soonji com vida (quando correu para o lado dele depois de achar o brinco), ela exibia uma expressão de profundo alívio e felicidade.
A Mercedes acompanhou o féretro quando este deixou a autoestrada em direção ao aeroporto. Donald ficaria com a mulher até embarcá-la no voo da TWA para os Estados Unidos e, tão logo o avião partisse, entraria no Bell Iroquois à sua espera para a breve viagem até a Zona de Armistício.
Howard Norbom ia pensar que Donald tinha passado por cima dele para conseguir seu intento e sentiu-se ligeiramente culpado por isso. Mas pelo menos o general não ficaria implicado quando ele tentasse fazer contato com a Coreia do Norte. Graças ao telefonema, se acontecesse algum erro, a culpa cairia em cima dele... e do Centro de Operações.
Quarenta e Três
Terça-feira, 23:45, Quartel General da KCIA
Quando recebeu a chamada de Bae Gun contando que a prisão tinha sido efetuada, Hwan ficou com os pensamentos divididos: tinham agido certo, mas lamentava ter perdido uma pessoa tão interessante quanto a srta. Chong. Os analistas ainda não tinham decifrado seu código, embora soubessem o conteúdo de algumas informações que ela passava, fornecidas por Bae. Ele dissera que tinha um filho militar e, às vezes, lhe dava informações reais, embora sem grande importância, sobre poderio de tropas, coordenadas de mapas e mudanças no comando. Agora que estava presa, Hwan duvidava que ela fosse ajudá-los.
A KCIA passara quatro anos monitorando, mas não interferindo com a atual leva de agentes norte-coreanos. Observando um, chegavam a outro, e daí a mais outro e mais outro. Os cinco espiões pareciam formar um grupo fechado, com Kim Chong e um fabricante de salgadinhos no epicentro, e Hwan achava que apanhara todos. Com a captura da mulher, manteria os outros vigiados dia e noite para ver com quem entravam em contato, ou que novo agente viria mandado para o lugar dela.
Entretanto, o que o atormentava é que no pouco código que tinham decifrado, não havia a menor indicação sobre a explosão de hoje. O próprio fabricante de salgadinhos – que embutia informações em bolinhos sem sal – recebera ordens de comparecer à cerimônia e avaliar a vontade da população quanto à reunificação. Embora a Coreia do Norte pudesse ter efetuado o ataque sem dizer nada aos agentes, Hwan acreditava que dificilmente arriscariam a vida de um espião daquela maneira. Por que mandar um agente se pretendiam promover um atentado na cerimônia?
O sargento na recepção ligou para ele quando os homens chegaram e Hwan postou-se atrás da mesa para recebê-los – e também a srta. Chong. Nunca a vira pessoalmente, só em fotografias, e tinha o hábito de se submeter a um tradicional exercício que George lhe ensinara a fazer quando fosse se encontrar com alguém que só conhecia através de fotografias, da voz, ou de reputação. Procurava preencher os espaços, ver o quanto dos seus palpites se aproximava da realidade. A altura, o timbre da voz... no caso de possíveis inimigos, se ficariam irritados, agressivos ou cooperativos. O procedimento não tinha utilidade alguma, a não ser para repassar o que sabia sobre as pessoas, antes de recebê-las.
Sabia que a srta. Chong tinha 28 anos, l,65m, cabelos longos, lisos, cor de carvão, e olhos escuros. E que, de acordo com o que Bae dissera a seu contato na KCIA, era um osso duro de roer. Hwan também suspeitava de que ela possuía a sensibilidade de um músico, o temperamento espinhoso de uma mulher obrigada a aguentar cantadas no bar do Gun, e o hábito de todos os espiões estrangeiros de ouvir mais do que falar, de aprender mais que revelar. Iria desafiá-lo, como faziam a maioria dos coreanos do norte, ao lidarem com os do sul.
Ouviu a porta do elevador se abrir, seguindo-se passos no corredor. Dois agentes entraram trazendo Kim Chong entre eles.
Fisicamente, a mulher era exatamente como ele a havia imaginado. Orgulhosa, intensa e alerta. Também se vestia mais ou menos como ele esperava: vestido justo preto, meias pretas e uma blusa branca, com os dois botões de cima abertos – o uniforme das mulheres que tocavam em bares e lobbies de hotel. Porém, errara o tom da pele. Não imaginava que fosse tão bronzeada. Mas, evidentemente, tinha que ser, já que os dias eram livres e ela ficava de um lado para o outro na cidade. Também ficou surpreso com as mãos, que viu ao pedir aos agentes para soltarem as algemas. Ao contrário de outros músicos que conhecera, os dedos não eram rudes e grossos, mas finos e delicados.
Pediu aos homens que fechassem a porta e esperassem do lado de fora, e a seguir indicou-lhe uma poltrona. A moça se sentou, com os dois pés no chão, joelhos juntos e as mãos pousadas no colo. Seus olhos estavam fixos na mesa.
– Srta. Chong, meu nome é Kim Hwan, vice-diretor da KCIA. Aceitaria... um cigarro?
Pegou uma caixinha na mesa e levantou a tampa. Ela pegou um cigarro e se assustou quando estava para batê-lo no vidro do relógio – tinham-lhe tirado, temendo que ela o utilizasse para cortar os pulsos. Pôs o cigarro na boca.
Hwan deu a volta na mesa para acendê-lo. A mulher deu uma tragada firme e se recostou, com uma mão ainda no colo e a outra no braço da poltrona. Ainda não deixava os olhos se encontrarem com os dele, o que era mais ou menos normal em interrogatórios com mulheres. Impedia qualquer tipo de ligação emocional de ser feita, o que deixava o encontro formal e levava muitos interrogadores à frustração.
Hwan ofereceu-lhe um cinzeiro e ela o pôs no braço da poltrona. Hwan, então, se sentou na beira da mesa e ficou olhando a mulher por cerca de um minuto antes de começar a falar. Mesmo com todo o verniz dela, tinha alguma coisa que ele não estava entendendo direito. Alguma coisa errada.
– Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Uma bebida?
Ela balançou a cabeça uma vez, ainda olhando para a mesa.
– Srta. Chong, já sabíamos da senhora e do seu trabalho há muito tempo. A sua missão aqui terminou. Vai ser julgada por espionagem, dentro de um mês, acredito. Com o clima reinante depois do que aconteceu hoje, imagino que a justiça vai ser rápida e desagradável. No entanto, posso prometer uma redução de pena, se nos ajudar a descobrir quem está por trás da explosão de hoje à tarde, no palácio.
– Não sei mais do que o que vi na televisão, sr. Hwan.
– Não avisaram nada com antecedência?
– Não. Nem acredito que o meu país tenha sido o responsável.
– – Por que diz isso?
Ela olhou para ele pela primeira vez.
– Porque não somos um país de malucos. Temos alguns doidos, mas a maioria de nós não quer a guerra.
Era isso, pensou. Era isso o que estava errado. Ela estava seguindo as regras do interrogatório e provavelmente tentaria obstruí-lo sempre que pudesse. Mas não estava envolvida de corpo e alma. Tinha feito uma distinção bem clara entre “alguns doidos” e “nós”. Nós quem? A maioria dos espiões saía das fileiras militares e nunca diria coisa alguma contra os compatriotas. Hwan se perguntou se a srta. Chong poderia ser um civil, um dos norte-coreanos que serviam contra a vontade porque tinham antecedentes criminais e batalhavam para reconquistar a honra perdida da família, ou porque um pai ou parente precisava do dinheiro. Se fosse verdade, então tinham alguma coisa em comum: queriam desesperadamente um pouco de paz.
O diretor Yung-Hoon jamais aprovaria a revelação de informações secretas ao inimigo, mas Hwan estava disposto a correr o risco.
– Srta. Chong, digamos que eu lhe dissesse que acredito em você...
– Eu lhe pediria para usar outro truque.
– Mas, e se fosse verdade? – Hwan saiu da mesa e se curvou em frente a ela, de modo que teria de se virar ou encará-lo. Ela o olhou.
– Fui um péssimo aluno de psicologia e sou um péssimo jogador de pôquer. Imagine que eu lhe diga que, apesar de alguém ter tido muito trabalho em fazer isso passar por uma ação dos militares do norte, e os indícios apontam para isso, eu pessoalmente não acredito que tenham sido eles.
Ela franziu a testa.
– Se me dissesse isso, eu imploraria para convencer os outros.
– E se eles não me acreditassem? Você ajudaria a provar minhas suspeitas?
O rosto dela estava alerta, mas interessado.
– Estou ouvindo, sr. Hwan.
– Achamos pegadas perto do local da explosão, com marcas de botas da Coreia do Norte. Para alguém botar a culpa nos militares do seu país, iriam precisar das botas, evidentemente, e também dos explosivos adequados e, provavelmente, de armas vindas do norte. Não sabemos que quantidade possa ter sido tomada; nada de muito grande, imagino, uma vez que um grupo desses deva ficar muito próximo e ser bem pequeno. Preciso que tente descobrir se um roubo desses aconteceu.
Kim apagou o cigarro.
– Acho que não.
– E não vai ajudar?
– Sr. Hwan, os seus superiores iriam acreditar se eu voltasse aqui com esse tipo de informação? Entre os nossos países não existe confiança.
– Mas eu vou acreditar. Pode entrar em contato com o seu pessoal, de algum outro jeito que não seja pelo bar?
– Se eu pudesse – perguntou Kim – , o que o senhor faria?
– Iria lá com você e ouviria o que eles têm a dizer, saberia se mais algum material foi roubado. Se os terroristas estiverem tão desesperados quanto eu suponho que estejam, devem estar planejando outros ataques para nos impelir para a guerra.
– Mas o senhor mesmo disse que os seus superiores não concordam com as suas suspeitas...
– Se acharmos alguma prova – disse Hwan – , qualquer coisa que prove as minhas suspeitas, vou passar por cima dos meus superiores e chamar o chefe da Força-tarefa da crise, em Washington. É um homem razoável e vai me ouvir.
Kim continuou observando o vice-diretor. Ele suspirou e descansou a têmpora no polegar e o dedo indicador.
– Temos muito pouco tempo, srta. Chong. O resultado da explosão de hoje pode não ser somente a guerra, mas o fim das conversões de reunificação para toda a nossa geração. Vai me ajudar?
Ela hesitou, só por um momento.
– Tem certeza de que confia em mim?
Ele sorriu levemente.
– Não vou lhe dar as chaves do carro, srta. Chong, mas nesse assunto... sim, confio em você.
– Tudo bem. – Levantou-se devagar. – Vamos colaborar nesse caso. Mas compreenda, sr. Hwan, eu tenho a minha família no norte. E eu só vou até um certo ponto para lhe ajudar... ou mesmo para a paz.
– Eu entendo.
Hwan caminhou rapidamente de volta à mesa e apertou o botão do interfone. Pediu ao sargento na recepção que aprontasse um carro com motorista, depois olhou para a prisioneira.
– Para onde vai me levar?
– Vou orientar o motorista pelo caminho, sr. Hwan. A não ser que me desse as chaves do carro, desse modo...
– Vou deixar que nos guie, obrigado. No entanto, eu tenho que dar um itinerário, no caso de haver algum problema, e essa é a primeira coisa que o diretor vai pedir quando voltar. Dê só uma orientação geral.
Kim sorriu pela primeira vez e disse:
– Norte, sr. Hwan. Vamos para o norte.
Quarenta e Quatro
Terça-feira, 10:00, Washington
Hood sentiu como se tivessem lhe cortado as pernas, mas não havia como não gostar do presidente.
Michael Lawrence não era a pessoa mais brilhante a ocupar o cargo, mas tinha charme, carisma, e isso funcionava bem na TV e nos comícios. O público gostava do jeito dele. Não era, certamente, o melhor administrador a atingir aquele posto. Não gostava de sujar as mãos com assuntos básicos de governo, não era um detalhista como Carter. Assessores de confiança como Burkow e a porta-voz Adrian Crow tinham recebido permissão para criar seus próprios feudos, núcleos de poder que ganhavam ou distribuíam órgãos do governo, retribuindo a cooperação e o êxito na forma de acesso ao presidente e com um número cada vez maior de atribuições, e punindo o fracasso com tarefas menos importantes e burocráticas. Mesmo ao cometer suas bobagens de calouro em política externa, o presidente não sofrerá tanta propaganda negativa quanto a que atormentara seus antecessores. Conquistando os órgãos de imprensa através de jantares, dando mais café e salgadinhos aos repórteres e destinando vazamentos e notas exclusivas cuidadosamente, Crow conseguira colocar a imprensa no bolso, a não ser por uns colunistas mais ressabiados. E, mesmo assim, argumentava ela, ninguém lia os editoriais. As mensagens e a Propaganda é que controlavam os eleitores, não as opiniões de George Will e Carl Rowan.
Lawrence podia também ser cego, mau e teimoso, mas, mesmo que não possuísse nenhuma outra qualidade, tinha um projeto para o país que era agressivo, inteligente e estava começando a funcionar. Um ano antes de anunciar sua candidatura, o então governador da Flórida se encontrara com vários líderes da indústria e perguntara se, em troca de consideráveis isenções de impostos e outras concessões, eles participariam da privatização da NASA, com o governo administrando todos os lançamentos e unidades e as empresas assumindo os custos de pessoal e pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, o que Lawrence estava propondo era aumentar três vezes o orçamento da agência espacial sem ter que passar pelo Congresso. Além disso, as despesas do governo com a área espacial seriam cortadas em dois bilhões de dólares, dinheiro que Lawrence pretendia destinar à educação e ao combate à criminalidade. Ele também sugeriu que um terço dos funcionários de uniforme azul da NASA viesse da assistência social, poupando assim quinhentos milhões de dólares por ano.
A indústria americana aceitara o plano e a campanha eleitoral de Lawrence lembrou aos americanos do tempo de glória das naves Mercúrio, Gemini e Apoio, de trabalhadores de colarinho azul e colarinho branco batalhando lado a lado por uma meta comum, com uma taxa de emprego alta e inflação baixa. Juntou tudo isso a imagens de bens já existentes (como microcomputadores, calculadores, satélites, telefones celulares, Teflon, videogames e câmeras de vídeo portáteis) e remédios para a cura do câncer, da Aids, geradores espaciais capazes de converter energia solar em elétrica, reduzindo custos e a dependência do petróleo estrangeiro, e até com a possibilidade de se controlar o tempo. Durante a campanha, toda vez que seu adversário dizia que o dinheiro seria gasto muito melhor na Terra, Lawrence replicava que a Terra tinha se tornado um ralo por onde escorriam empregos e dólares dos contribuintes e que seu plano poria um fim em tudo aquilo... e também nos ataques estrangeiros aos avanços tecnológicos que roubavam empregos dos americanos.
Lawrence acabou vencendo e, assim que foi eleito, reuniu-se com os mesmos líderes industriais e novos diretores da NASA para obter uns resultados concretos e rápidos, enquanto se ocupavam em colocar a estação espacial em órbita antes do fim do primeiro mandato.
Fazendo um leasing da estação russa Nevsky, que estava abandonada, mandaram pesquisadores médicos e engenheiros para o espaço, e, 18 meses depois, a máquina de imprensa de Adrian Crow começava a soltar os resultados: as imagens mais espantosas eram as de um jovem médico, que ficara paralítico na operação Tempestade no Deserto, jogando basquete com um astronauta a um índice de gravidade zero. O presidente tinha curado um paralítico e aquela era uma imagem que as pessoas nunca iriam se esquecer.
Alguns podiam se sentir frustrados com as falhas do presidente, ou por sua falta de jogo de cintura, mas era preciso admirar a visão que ele tinha. E apesar da sua política externa ter ido muito mal no começo, fora esperto o suficiente para criar o Centro de Operações para ajudá-lo. Burkow argumentara que o que precisavam para agitar as coisas no exterior era menos (e não mais) burocracia, mas nisso o presidente discordara – criando, assim, a tensão permanente entre Hood e o Conselho de Segurança Nacional.
Mas tudo bem. Paul podia lidar com aquilo. Comparado com alguns grupos de interesses especiais e monitores de correção política com quem tinha que tratar em Los Angeles, Burkow era como um dia na praia.
Hood entrou no hospital, estacionou na seção de emergência e correu para o elevador. Como sabia o número do quarto (834), pois telefonara antes, subiu direto para lá. A porta estava aberta. Sharon estava afundada na cadeira, olhos fechados, e se assustou quando ele entrou. Ele a beijou na testa.
– Pai!
Hood olhou para a cama. A voz de Alexander estava abafada pela tenda transparente, mas os olhos e o sorriso eram radiantes. Respirava devagar e com dificuldade, seu pequeno peito dando duro para tirar um pouco de ar de cada respiração. Hood ficou de joelhos. Perguntou:
– Foi o Lorde Koopa que te derrubou, Super Mario?
– É Rei Koopa, pai.
– Desculpa. Você sabe o quanto eu entendo desses jogos. Fico surpreso de você não estar com o seu Game Boy aí dentro.
O garoto deu de ombros.
– Eles não iam me deixar. Não posso nem ler histórias em quadrinhos aqui. A mamãe teve que ler o Supreme para mim e depois mostrar as figuras.
– Depois nós vamos ter que conversar sobre umas histórias que ele anda lendo – disse Sharon, andando até lá. – Arrancar os braços e quebrar um monte de dentes...
– Mãe, isso é bom para a minha imaginação.
– Não se altere – disse Hood. – Quando você melhorar, nós conversamos sobre isso.
– Pai, eu adoro histórias em quadrinhos...
– E vai continuar com elas – disse Hood. Tocou na tenda com as costas da mão e alisou o rosto do filho. Agora o mais importante eram os avanços médicos. Ele chegou mais perto e deu uma piscadela. – Preocupe-se em ficar de pé que mais tarde nós cuidamos de convencer a sua mãe.
Alexander assentiu fracamente e o pai se levantou.
– Obrigado por ter vindo – disse Sharon. – A crise já passou?
– Não. – Ele não sabia se era uma espetada, mas preferiu dar à esposa o benefício da dúvida. – Olha, lamento pelo que disse antes, mas nós realmente estamos nadando contra a maré. O que é que você fez com a Harleigh?
– Ela vai ficar com a minha irmã.
Hood assentiu e depois beijou Sharon.
– Telefono mais tarde.
– Paul...
Ele olhou para trás.
– Eu realmento não acho que essas histórias façam bem a ele São violentas demais.
– As histórias do meu tempo também eram e olha como eu sou bem resolvido. Mesmo com todas as cabeças cortadas, os zumbis e o Tio Terror.
Sharon ergueu as sobrancelhas e suspirou devagar, enquanto Hood a beijava outra vez. Dando a Alexander um sinal de positivo, correu para o elevador, sem se atrever a olhar para seu relógio até estar lá dentro, em segurança.
Quarenta e Cinco
Terça-feira, 10:05, Centro de Operações
– Por que diabo o Viens está demorando tanto? – perguntou Matt Stoll enquanto olhava fixo o monitor. – Você programa o intervalo de tempo, aperta Search e isso devia lhe levar às imagens falsas do satélite.
Phil Katzen estava sentado numa cadeira a seu lado e também olhava para a tela. Enquanto o DVN fazia a procura pelos arquivos fotográficos daquela manhã, Stoll e Katzen aplicavam o programa detalhado de diagnóstico ao sistema. O 11o e último programa já estava quase completo.
– Talvez o Viens não tenha achado nada, Matty.
– Sabe muito bem que isso é impossível!
– Eu sei. Mas o computador talvez não saiba.
Stoll torceu os lábios.
– Touché. – Balançou a cabeça, enquanto o último diagnóstico desligava sozinho, com um gráfico AOK – E nós sabemos que isso também não é possível! – Teve que resistir à vontade de dar um tapa no computador. Do jeito que estava sua sorte, o sistema inteiro pifaria de novo.
– Não há como o diagnóstico ter sido invadido, não é? – perguntou Katzen.
– É. Mas isso era o que eu também pensava quanto ao resto do software. Detesto dizer isso, Phil, mas eu daria a minha narina esquerda Para encontrar o filho da puta que fez isso comigo.
– Está tomando como uma ofensa pessoal, hem?
– Garanto que sim. Fazer alguma coisa com o meu software é o mesmo que fazer alguma coisa comigo. O que me irrita é que ele não somente me enganou, como também não deixou marcas. Nem uma.
– Vamos esperar e ver o que o DVN...
O telefone tocou e o número de identidade do autor da chamada brilhou no mostrador retangular.
– Você não morre tão cedo – disse Stoll, enquanto apertava o botão para falar. – Aqui é o Stoll.
– Matty, aqui é o Steve. Desculpa ter demorado tanto, mas o computador dizia que não havia problema algum, por isso tive que verificar as fotos pessoalmente.
– Mil perdões.
– Porquê?
– Por ter falado de você com o meu amigo Phil, aqui, por estar demorando tanto. O que descobriu?
– Exatamente o que você disse que íamos achar. Uma foto foi mandada às 7:58:00.8965 desta manhã... exatamente com um milésimo de segundo de atraso. E adivinha o que ela tem? Está cheia de raios e trovões que não existiam 0,8955 segundos antes.
– Impressionante – disse Stoll. – Põe na minha tela, por favor. E, Steve... muito obrigado.
– Não há de quê. Enquanto isso, há alguma coisa que possamos fazer para limpar o sistema?
– Não posso dizer até dar uma olhada nas fotos. Ligue de volta assim que possível.
Stoll desligou enquanto as imagens passavam no monitor. A primeira foto mostrava o terreno do jeito que era: sem homens, tanques ou artilharia. A segunda os mostrava entrando no visor. Tudo, dos grãos até as sombras, parecia autêntico.
– É uma falsificação. Tremendamente boa – disse Katzen.
– Talvez não. Olhe aqui.
Stoll apertou Shift/Fl, e depois usou a lupa. A tela voltou com um cursor e ele o moveu sobre o para-brisa de um jipe no alto do vídeo. Apertou Enter e o para-brisa ocupou todo o monitor
– Arquive isso.
Katzen olhou, apertou os olhos, depois suspirou em voz alta.
– Impossível!
– Possível – disse Stoll, sorrindo pela primeira vez em várias horas. Pegou o mouse, apertou o botão de cima e arrastou o cursor pela tela, desenhando uma pequena linha amarela em torno do reflexo de um carvalho.
– Não existem árvores nas vizinhanças, Phil. Essa imagem foi tirada de uma outra foto ou fotografada em algum outro lugar e inserida digitalmente.
Deixando a foto no documento um, mudou para o novo documento dois e pediu ao computador que procurasse nos arquivos do DVN por uma foto igual. Dois minutos e 12 segundos mais tarde, a fotografia apareceu na tela.
– Inacreditável – exclamou Katzen.
As informações técnicas sobre a foto apareciam numa barra lateral. Tinha sido tirada 275 dias antes na floresta que há nos arredores da Represa de Supung, próxima da fronteira entre a Manchúria e a Coreia do Norte.
– Alguém entrou no nosso arquivo fotográfico – disse Stoll – escolheu todas as imagens que queria e criou um novo programa.
– E carregou em um milésimo de segundo – disse Katzen.
– Não. O carregamento foi a pane. Ou, pelo menos, o que para nós pareceu uma pane.
– Não estou entendendo.
– Enquanto achávamos que os computadores tinham pifado, alguém, de algum modo, usou aqueles vinte segundos para inserir essa foto e todas as subsequentes no sistema. Demorou um milésimo de segundo para introduzir e agora, como se fosse uma gravação, essas imagens pré-fabricadas são tocadas para nós a cada 0,8955 segundos.
– Isto é diabolicamente fantástico.
– Mas isso não muda o fato de que nós, o DVN, o Departamento de Defesa e a CIA, formamos um sistema fechado. Ninguém poderia entrar pelas linhas telefônicas. Para despejar tantos dados, alguém teria que ter sentado aqui no Centro e enfiado um disquete atrás do outro.
– Mas quem? Os monitores da segurança não mostraram nada de anormal.
Stoll esforçou-se para não rir.
– E o que faz você pensar que os monitores sejam de confiança? Tem alguém fodendo com os nossos satélites. Não ia ser muito difícil burlar uma câmera de vídeo.
– Caramba, eu não tinha pensado nisso.
– Mas numa coisa você tem razão. Eu não acredito que isso tenha sido feito aqui dentro. Significaria que tem alguém podre aqui e, apesar de tudo o que eu penso do Bob Herbert como pessoa, ele é um gerente muito cuidadoso.
– É bom ouvir isso.
– Obrigado. – Stoll voltou ao documento um e olhou o para-brisa. – Então, o que temos aqui? Em algum lugar do sistema há um programa falso, e nele existem fotografias que os satélites do DVN ainda nem tiraram. Fotos que vão parecer que eles tiraram a cada 0,8955 segundos. Essa é a notícia ruim. A boa é que, se conseguirmos encontrar o programa, podemos cortá-lo, restaurar os nossos olhos no espaço e provar que tem alguém disposto a provocar uma confusão e tanto na Coreia.
– E como é que você vai ser capaz de fazer isso se não sabe onde está o arquivo, ou como ele se chama?
Stoll salvou a ampliação e saiu do arquivo, depois foi ao diretório. Escolheu biblioteca e esperou enquanto a enorme lista era carregada.
– As fotos que o invasor usou foram tiradas antes mesmo que o Centro de Operações existisse, portanto deve ter demorado muito para ser escrito. É bem grande. Deve ter vindo na rebarba de algum arquivo ou teríamos percebido na hora que esterilizamos o software externo. O que significa que o arquivo receptor deve estar muito inchado.
– Então nós procuramos um arquivo de, digamos, sinais em Pyongyang e, se ele estiver 30 megabytes maior do que devia ser, provavelmente vai ser o programa adulterado.
– É isso aí.
– Mas onde é que começamos? Quem quer que tenha escrito o programa tinha que ter acesso às fotos de vigilância da Coreia do Norte, o que poderia ser alguém no Centro de Operações, no DVN, no Pentágono ou na Coreia do Sul.
– No Centro e no DVN, ninguém ganha nada com uma mobilização nas Coreias do Norte e do Sul – disse Stoll. – Só daria mais trabalho. O que nos deixa com o Departamento de Defesa e a Coreia do Sul.
Stoll começou a dar uma busca pela listagem da biblioteca, contando o número de disquetes de cada fonte. Para chegar aos disquetes que queria, seria necessário pôr um asterisco em cada arquivo e mandar o pedido pelo correio eletrônico aos arquivos do Centro. Os disquetes seriam então copiados, entregues em mãos, assinados e apagados na volta.
– Que merda – exclamou Katzen, ao ver os números crescerem. – São duzentos disquetes do Departamento de Defesa e quarenta e tantos da Coreia do Sul. Vai demorar dias até passar todos eles.
Depois de pensar por um momento, Stoll iluminou todo o arquivo da Coreia do Sul.
– Começando pelo menor?
– Não. Pelo mais seguro. – Apertou a tecla Star, e depois Send.
– Se o Bob Herbert um dia descobrir que eu suspeitei primeiro da nossa turma, vai me matar.
Katzen pôs a mão em seu ombro e se levantou.
– Vou pedir ao Paul para se apressar, mas, Matty, preciso que você me faça um favor.
– É só dizer.
– Diga a ele que fui eu que achei o carvalho.
– Tudo bem, mas por quê?
– Porque se o nosso diretor um dia descobrir que o seu assessor de meio ambiente não conseguiu ver uma árvore a meio metro do rosto, vai me matar.
– Está feito – disse Stoll, enquanto se recostava, cruzava os braços e esperava os disquetes chegarem.
Quarenta e Seis
Quarta-feira, 0:30, arredores de Seul
As rodovias que ligam Seul à Zona de Armistício ainda estavam cheias de tráfego militar e Hwan dissera ao motorista Cho que se restringisse às estradas vicinais. Seguiam as instruções de Kim Chong, uma chuva fina caindo enquanto o carro se dirigia para o norte. Cho ligou o desembaçador, que funcionou bem. Hwan só torcia para que os seus instintos também estivessem ligados.
Sentado no banco de trás, ao lado de Kim, Hwan pensou se era uma boa ideia – sem considerar que, naquele instante, era a única disponível. Trabalhar com Kim ia contra tudo o que tinha aprendido e sido levado a acreditar: estava confiando numa espiã norte-coreana quanto a assuntos relacionados à segurança da Coreia do Norte. Enquanto estava ao lado da moça, que olhava fixa e silenciosamente pela janela, começou a ter sérias dúvidas sobre o que estava fazendo. Não tinha medo de que ela o levasse para uma armadilha ou um ninho de cobras norte-coreanas. Hwan decidira ficar com o casaco aberto, para que ela pudesse ver o.38 no coldre de seu ombro. Mas Kim tinha se entregado a Bae, em vez de levar um tiro. Ela queria viver.
Preocupava-o o fato de ela poder enganá-lo. Era uma possibilidade, apesar de toda a sinceridade aparente – e assim ele ajudaria a Coreia do Sul a cair numa armadilha militar. Até a possibilidade de ela não enganá-lo o assustava. Mesmo que tudo corresse bem, que as informações dela fossem corretas e um conflito pudesse ser evitado, ele ainda poderia ser acusado de conluio com o inimigo. Qualquer que fosse o resultado, nada significaria ante a vergonha de ser acusado de traição.
Resistiu ao impulso de falar com ela e tentar descobrir mais a seu respeito. Não podia se permitir mostrar fraqueza ou incerteza, ou então ela poderia tirar vantagem. O motorista Cho, aparentemente, não tinha esse tipo de dúvida, ao olhar frequentemente pelo espelho retrovisor. Sob a aba marrom de seu chapéu, havia preocupação em seus olhos. Cada vez que Kim dava uma nova instrução para se chegar a um lugar cada vez mais isolado, nos morros do nordeste, a cada curva Cho dava uma olhada rápida para o equipamento de rádio no painel, mostrando-o com os olhos, pedindo a Hwan silenciosamente para deixá-lo entrar em contato com o QG e dar a localização.
Hwan simplesmente balançava a cabeça uma vez, ou desviava o olhar.
Coitado do Cho, pensou. Três meses antes, tinha levado um tiro na mão e fora transferido do trabalho de campo para a função de motorista. Queria tanto voltar ao velho ofício, torturar e torcer umas cabeças...
Mas, não. Nada de voltar atrás, nada de reforços, nada que pudesse levar a srta. Chong a duvidar da sinceridade deles. Estavam juntos na mesma viagem – juntos com uma mulher que sabia que, se não conseguisse escapar, iria para a prisão ou talvez até para a forca. Hwan só torcia para que o sentimento de dever que ela tinha fosse tão forte quanto o seu.
– Posso dizer uma coisa? – perguntou Kim, olhando fixo pela janela.
Hwan olhou para ela, mal escondendo a surpresa.
– Por favor.
Ela se virara para ele, os olhos mais doces do que antes, a boca menos presa.
– Estava pensando no que está fazendo e tenho que dizer que é muito corajoso.
– Um risco inteligente, eu diria.
– Não. Podia ter ficado onde estava, não haveria vergonha nenhuma nisso. Você não sabe para onde o estou levando.
Hwan sentiu que Cho tirara o pé do acelerador e o fuzilou com o olhar. O carro voltou à velocidade normal.
– E aonde a senhorita está nos levando?
– Para o meu sítio.
– Mas você mora na cidade.
– Por que diz isso? Só porque os seus agentes me seguiram? Uma mulher que não gosta de beber e um homem que muda de disfarce, mas não de hálito?
– Aqueles eram calouros. Era para você ver mesmo.
– Agora entendo. Assim eu não ia perceber que o Gun é que ficava me espionando. Mas ele nunca me levou até em casa. Uma parte da informação de vocês devia vir dos calouros.
Hwan não disse nada.
– Isso não importa. Eu tinha uma lambreta nos fundos e vinha até aqui passar as mensagens verdadeiras. Dobre à direita na estrada de terra – disse para Cho.
Cho olhou para Hwan pelo espelho. Dessa vez, Hwan o ignorou.
– Como vê – prosseguiu Kim – , você não era o único preocupado em enganar os outros. Há muitos anos, já sabíamos que vocês espionavam o bar e fui mandada para lá para atrair a atenção do seu pessoal. O código até que era verdadeiro, mas as pessoas para quem eu tocava – as pessoas que vinham e que vocês seguiam até em casa
– não tinham a menor ideia do que eu dizia. Eram todos sul-coreanos que eu pagava para passar uma ou duas horas no bar e depois saíam.
– Entendo – disse Hwan. – Digamos que eu acredite em você, o que não estou totalmente preparado para fazer, por que está me contando isso?
– Porque preciso que acredite numa coisa que vou dizer, sr. Hwan. Eu não vim para Seul porque queria. Han, o meu irmão, invadiu um hospital militar para roubar morfina para a mamãe. Quando a polícia chegou, eu o ajudei a fugir e aí prenderam minha mãe e eu. Mandaram que eu escolhesse: podia continuar na prisão ou podia ir para o sul e recolher informações.
– E como é que veio para cá?
Os olhos de Kim brilharam.
– Por favor, não me entenda mal, sr. Hwan. Não sou uma traidora. Só vou contar o que o senhor precisar saber, nada mais. Posso continuar?
Hwan fez que sim.
– Concordei em vir para cá, sob a condição de que minha mãe seria levada a um hospital e meu irmão, perdoado. Eles concordaram, embora eu nunca mais tenha conseguido encontrar Han depois disso. Desde então, só soube que ele tinha ido para o Japão.
– E sua mãe?
– Estava com câncer no estômago, sr. Hwan. Morreu antes de eu vir para cá.
– Mas assim mesmo você veio.
– Minha mãe foi bem tratada até o fim. O governo tinha feito a sua parte e eu ia fazer a minha.
Hwan assentiu. Continuava a ignorar os olhos de Cho, que pulavam de um lado para o outro como uma bolinha de pingue-pongue.
– Você disse que queria que eu acreditasse numa coisa, srta. Chong. Na sua história?
– Sim, mas numa outra coisa também. Sem a minha ajuda, vai morrer lá no sítio.
Cho apertou o freio até o fim. O carro derrapou levemente na estrada enlameada, antes de parar completamente.
Hwan olhou para a passageira, mais com raiva de si do que dela. As portas estavam fechadas e ele estava pronto para usar a arma, se necessário.
– E você vai morrer na prisão de Masan, sem minha ajuda – falou. – Quem está no sítio?
– Ninguém. Mas está cheio de explosivos.
– Onde?
– Há um rádio dentro do piano. Se não tocar uma melodia específica antes de levantar a tampa, uma bomba explode.
– Vai tocar a melodia para nós. Você não quer morrer.
– Está enganado, sr. Hwan. Estou disposta a morrer. Mas também estou disposta a viver.
– Sob que condições, srta. Chong?
Um farol solitário apareceu no retrovisor. Cho abaixou a janela e fez sinal para a lambreta passar. A moça esperou até que o motor estivesse longe.
– Não tenho nada, a não ser meu irmão.
– E a Coreia do Norte.
– Sou uma patriota, sr. Hwan, não me insulte. Mas não posso voltar. Tenho 28 anos e sou mulher. Vou ser mandada para uma outra missão, não no sul, mas num outro país. Talvez me peçam para usar mais do que os meus dotes musicais.
– O patriotismo tem seu preço.
– A minha família já pagou esse preço. Muitas vezes. Agora quero ficar com o que restou dela. Vou fazer o que está pedindo, mas depois quero que me deixe no sítio.
– Para que você possa ir para o Japão? – Hwan sacudiu a cabeça. – Eu seria demitido com desonra, e com toda razão.
– Quer dizer que prefere arriscar a ver seu país numa guerra?
– Você também parece pronta para deixar que milhares de jovens como o seu irmão morram.
Kim desviou o olhar.
Hwan olhou para o relógio no painel. Mandou que Cho continuasse a dirigir e o carro prosseguiu esguichando lama.
– Não vou deixar ninguém morrer – disse Kim.
– Eu já esperava isso. – Olhou para o rosto dela, iluminado aqui e ali pelas luzes dos sítios e das cabanas pelas quais passavam. As sombras da janela molhada brincavam em seu rosto. – Vou fazer o que puder por você, é óbvio. Tenho amigos no Japão. Talvez possamos arranjar alguma coisa.
– Como ir para a prisão lá?
– Não exatamente uma prisão. Existem estabelecimentos menos rígidos, como colônias.
– Seria difícil achar o meu irmão. Mesmo de uma cela confortável.
– Também posso ajudar nesse assunto. Ele pode ir visitá-la, ou talvez possamos arrumar alguma outra coisa.
Ela olhou para ele. Os traços escuros em seu rosto pareciam lágrimas.
– Obrigado. Já é alguma coisa. Se puder conseguir.
Parecia aberta e vulnerável pela primeira vez e ele se sentiu atraído por ela. Era forte e bonita e ele pensou (e quase disse) que sempre poderia se casar com ela e realmente complicar a situação do sistema jurídico sul-coreano – mas por mais tentadora que a ideia fosse, parecia injusto tentar conquistá-la com a liberdade... ou ameaçá-la com ele.
Mas era isso o que pensava ao viajarem pela estrada cada vez mais escorregadia até a casa de Kim, nas montanhas. E mesmo que não estivesse pensando nela, dificilmente teria visto que a lambreta que passara por eles estava na beira da estrada, com o farol desligado e o motor funcionando...
Quarenta e Sete
Terça-feira, 10:50, Centro de Operações
Phil Katzen deu de cara com Paul Hood a caminho da sala deste e entraram juntos. Contou ao diretor o que haviam descoberto, e que Stoll estava processando o primeiro disquete da Coreia do Sul.
– Isso encaixaria com o que o Donald disse à Martha – concluiu Hood. – Nem ele, nem o Kim Hwan pensam que foi a Coreia do Norte. – Hood sentia-se bem depois de ver o filho e estava feliz com as perspectivas do garoto. Permitiu-se dar um leve sorriso. – Que tal trabalhar longe das manchas de óleo e das florestas tropicais?
– Estranho – admitiu o assessor de meio ambiente – , mas muito revigorante. Estou exercitando músculos que estavam um pouco atrofiados.
– Se passar muito tempo aqui, não é só isso que vai atrofiar.
Ann Farris entrou na sala.
– Paul...
– Exatamente quem eu queria ver.
– Talvez não. Já sabe sobre os disquetes da Coreia do Sul?
– Eu sou o diretor. Sou pago para saber dessas coisas.
Ela franziu a testa.
– Caramba! Como estamos animados! A reunião com o presidente deve ter sido boa!
– Na verdade, não. Mas com o meu filho, foi. O que houve com os disquetes? Eu pensei que essas requisições aos arquivos fossem confidenciais.
– Claro. E ao meio-dia, o Washington Post já vai estar sabendo. É ridículo o que as pessoas fazem por dinheiro ou por umas entradas para a final do campeonato de futebol americano. Mas não é isso o que temos de resolver agora. Você faz ideia do tipo de pesadelo, em termos de relações públicas, que vamos ter de enfrentar se vazar alguma coisa sobre nossa suspeita de que os nossos aliados estão por trás disso?
– E você não pode inventar alguma coisa?
– Perfeitamente, Paul. Mas desconfiança vende e é isso o que eles vão martelar.
– E o que foi que aconteceu com a verdade, a justiça e o american way of life?
– Morreu com o Super-Homem, cara – disse Phil. – E quando o ressuscitaram, esqueceram do resto.
Ann bateu com a caneta num pequeno bloco que segurava.
– O que é que você estava querendo falar comigo?
– Só um instante, Ann. – Hood teclou F6 e o rosto de seu assistente cobriu a tela inteira. – Alguma novidade da KCIA, Bugs?
– O laudo do laboratório está no BH/1.
– Em linhas gerais, diz o quê?
– Explosivos, marcas de botas e traços de petróleo da Coreia do Norte. Como vai o Alexander?
– Melhor, obrigado. Faça-me um favor. Peça ao Herbert para vir aqui às onze. – Hood desligou a imagem na tela. Passou a mão pelo rosto. – A KCIA diz que é a Coreia do Norte, mas o Matty acha que fomos invadidos por um vírus da Coreia do Sul e o Donald pensa que são sul-coreanos querendo passar por norte-coreanos. Um belo circo.
– E você é um ótimo comandante – disse Ann. – O que aconteceu com o Alexander?
– Teve um ataque de asma.
– Coitado – disse Phil, balançando a cabeça enquanto ia até a porta. – Essa porcaria desmog, nessa época do ano, também não ajuda em nada. Se precisar de mim, vou estar com o Matty.
Quando ficaram sozinhos, Hood percebeu que Ann o olhava intensamente. Não era a primeira que a via fazendo isso, mas hoje havia algo naqueles olhos castanho-escuros que o deixavam mais quente e constrangido – quente, porque havia compaixão no olhar, e constrangido, porque não era o tipo de sensação que obtinha com frequência da própria mulher. Mas, aí, Ann Farris não tinha que conviver com ele.
– Ann – disse ele – o presidente...
– Paul – disse Lowell Coffey quando entrou, a mão imensa ainda na maçaneta enquanto quase batia de cara com Ann.
– Pode entrar – disse Ann. – Não precisa fechar a porta, com todos os vazamentos que estão acontecendo por aqui.
– É verdade. Paul, preciso falar um segundo com você. Sobre aquela checagem que o Matty está fazendo sobre a Coreia do Sul. Você tem de se certificar de que as únicas palavras que vão sair dessa organização são “nada a declarar”. Há acordos com Seul que exigem sigilo total e uma possível causa de difamação se apontarmos o dedo para o grupo ou a pessoa errada, e ainda estamos nos arriscando a expor certos métodos questionáveis pelos quais recolhemos as informações que estão naqueles disquetes.
– Mande a Martha dar um ultimato a todo mundo. E mande alguém da equipe do Matt preparar os computadores para transcrever todas as conversas telefônicas.
– Não posso fazer isso, Paul. É absolutamente ilegal.
– Então que seja ilegal e mande a Martha falar isso para cada um.
– Paul...
– Faz o que eu estou mandando, Lowell. Depois eu me entendo com a porra dessa turma dos direitos civis. Não posso fazer minha equipe tapar os buracos e ainda me importar com quem os estiver causando.
Lowell foi embora, com uma cara de desgosto.
Hood ficou olhando para Ann, que procurou se lembrar em que estivera pensando. Agora ele via o lenço dela, enrolado com cuidado em volta dos cabelos. Odiou a si mesmo enquanto imaginava como seria bom puxar carinhosamente a ponta daquele tecido vermelho e preto e meter suas mãos naqueles cabelos longos, castanhos...
Voltou a se concentrar, depressa.
– Ann, eu... é... tenho mais um trabalho para você. Soube daquele Mirage que derrubaram?
Ela assentiu, os olhos de repente ficando tristes. Hood se perguntou se ela adivinhara o que ele estava pensando. As mulheres nunca deixavam de surpreendê-lo nesse particular.
– A Casa Branca vai emitir um comunicado dizendo que, à luz da reação excessiva da Coreia do Norte ao nosso sobrevoo, nossas forças na região estão sendo postas em situação de alerta Defcon 3. – Olhou para o relógio regressivo na parede de trás. – Isso foi há 52 minutos. Pyongyang vai tomar uma medida semelhante, talvez com um passo a mais, e eu acredito... eu espero... que o presidente deixe as coisas como estão até sabermos melhor o que aconteceu no palácio. A essa altura do campeonato, se ele reagir ainda mais, só Deus sabe o que a Coreia do Norte vai fazer. Quando Bob chegar aqui, teremos que falar com Ernie Colon e dar ao presidente uma atualização das alternativas militares. O que eu quero, Ann, é que você amenize o que a Casa Branca disser.
– Criar uma saída?
– Exatamente. Lawrence não vai se desculpar pelo sobrevoo, então nós também não podemos. Mas se tudo o que fizermos for falar grosso, no fim talvez tenhamos que tomar atitudes drásticas. Vamos inserir um toque de lamento no nosso comunicado, de modo que, se tivermos de recuar em algum momento, sempre haverá uma porta aberta. Você sabe que eles têm o direito, como todas as nações soberanas, de proteger seu território e lamentamos que as circunstâncias tenham-nos forçado a tomar medidas extremas pelo mesmo motivo.
– O Lowell vai ter que aprovar isso.
– Perfeitamente. Eu já dei um fora nele.
– Com toda a razão. O cara é um pé no saco.
– Ele é um jurista – corrigiu Hood. – É pago para fazer o papel de advogado do diabo.
Ann dobrou e guardou o bloco. Hesitou.
– Já comeu alguma coisa hoje?
– Só um corvo pequeno.
– Ah, eu bem que tinha percebido algumas penas na sua voz. Quer comer alguma coisa?
– Talvez mais tarde. – Hood já ouvia a voz de Bob Herbert, que rolava a cadeira em direção à sala. Olhou para Ann. – Vou lhe dizer uma coisa. Se estiver livre ao meio-dia e meia, por que não pede para eles mandarem umas saladas da comissária. Vamos comer e falar de estratégia.
– Está marcado – disse ela, de um jeito que fez todo seu corpo ficar elétrico.
Ann se virou para sair e ele a olhou, fingindo que olhava para baixo. Era um joguinho bem perigoso aquele, mas não iria a lugar algum
– ele não deixaria – e, no momento, estava gostando da atenção.
Mudou de atitude rapidamente quando Herbert entrou pelo escritório, apertando a campainha de Bugs e pedindo-lhe que pusesse o secretário de Defesa na ligação televisiva.
Quarenta e Oito
Quarta-feira, 1:10, cordilheira do Diamante, Coreia do Norte
Até o local dos mísseis Nodong, eram 130 quilômetros em meio aos corvos, mas a viagem se tornava mais lenta devido à estrada de terra extremamente esburacada e o mato que crescia com a mesma velocidade que os norte-coreanos procuravam limpá-lo. Depois de quase três horas de sacolejos, o coronel Sun e seu ajudante Kong chegaram, enfim, ao destino desejado.
Sun mandou que Kong parasse o carro ao chegarem ao cume do monte de onde se avistava todo o vale em que ficavam os mísseis móveis Nodong. Levantou-se devagar e permaneceu no jipe, olhando fixo para os três caminhões dispostos em triângulo. Os grandes mísseis estavam deitados nas carrocerias, camuflados com plantas para impedir que fossem vistos de cima. A parca luz da lua minguante, podia ver parte do exterior branco dos mísseis aparecendo entre as folhas.
– É uma visão emocionante – atestou Sun.
– Mal posso acreditar que conseguimos.
– Ah, conseguimos, sim – disse Sun. Apreciou a vista um pouco mais. – E vai ser ainda mais emocionante vê-los voar.
Parecia mesmo incrível: depois de um ano de contatos furtivos c°m a Coreia do Norte, de trabalhar de perto com o major Lee, o capitão Bock e o seu expert em informática, o praça Koh, e até com o inimigo, uma segunda Guerra da Coreia estava prestes a acontecer.
Em seu íntimo, tanto Sun como Lee esperavam que isso poria um fim definitivo nas conversações sobre reunificação. Esperavam que, mais do que isso, os Estados Unidos se comprometeriam integralmente à sua causa e à destruição da Coreia do Norte como potência militar. Se viesse a reunificação, ela seria o resultado da força – e não de um acordo.
– Continue a dirigir – falou Sun, quando se sentou.
O jipe desceu, fazendo barulho, a estrada da montanha em direção à plataforma de artilharia mais próxima. Havia dois tanques antiaéreos ZSU-23-4 quad SPAAG apontados para a localização dos mísseis Nodong, com um soldado postado na grande torre de aço quadrada, com quatro canhões de 23mm refrigerados a água e eleváveis a uma angulação máxima de 85 graus. Cada um tinha um alcance de 450 quilômetros. Sun sabia que seis outros tanques estavam dispostos ao redor do local. Suas grandes antenas de radar, com forma de prato, atrás das torretas, eram capazes de captar aviões de noite e de dia.
Uma sentinela fez o jipe parar. Depois de passar cuidadosamente as ordens do coronel à luz de uma lanterna, pediu respeitosamente que apagasse os faróis antes de continuar. O guarda bateu continência e o jipe continou a descida – às cegas, como Sun bem sabia, para sua própria proteção. Podia haver espiões inimigos nos morros e um coronel seria um grande prêmio para um franco-atirador.
E ademais seria uma pena, pensou, ser morto por seus próprios compatriotas. Porque aquele coronel estava prestes a fazer pela Coreia do Sul mais do que qualquer outro soldado em toda a história do país.
Quarenta e Nove
Quarta-feira, 1:15, Zona de Armistício
Gregory Donald foi recebido no compartimento de carga do avião da TWA por um representante da companhia e pelo vice-chefe da missão, que cuidaram da papelada de alfândega e do embarque do caixão no Boeing 727. Donald só foi para o Bell Iroquois depois do avião levantar voo e ele ter tocado a ponta do dedo nos lábios e mandado um beijo para o céu.
O helicóptero fez a viagem do aeroporto de Seul até a Zona de Armistício em apenas 15 minutos. Donald foi recebido no campo de pouso por um jipe que o levou até a base do general M. J. Schneider.
Donald aguardara ansiosamente aquele encontro. Em sua vida, tão cheia de acontecimentos, tinha estado com pessoas que eram evidentemente doidas, mas Schneider era a única que possuía quatro estrelas. Filho da Depressão que fora literalmente deixado à porta do Clube do Aventureiro, em Nova York, Schneider sempre imaginava que sua mãe voltaria à cena do crime e que seu pai era um caçador °u explorador famoso. Ele certamente contava com uma constituição digna de H. Rider Haggard: l,88m de altura, queixo pronunciado, ombros largos e quadris de Mister Universo. Fora adotado por um casal que morava e trabalhava no bairro das confecções e, aos 18 anos, alistou-se ainda a tempo de ir para a Guerra da Coreia. Foi um dos Primeiros conselheiros no Vietnã e um dos últimos soldados a se realistar. Voltou à Coreia em 1976, quando sua filha Cindy morreu acidentalmente esquiando. Aos 65 anos, continuava sendo o que Donald um dia descrevera como “o último texano no forte Álamo”: preparado, disposto e capaz de ir à luta.
Schneider era uma contrapartida à altura de Hong-koo, o general norte-coreano sempre pronto para apertar o gatilho. E trabavalha surpreendentemente bem com o general Sam, da Coreia do Sul, com quem liderava a Força Conjunta dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Enquanto Schneider, de fala exacerbada, acreditava que devia jogar tudo que tivesse à mão na solução de um problema (inclusive armas táticas nucleares), Sam era um homem de 52 anos, quieto e reservado, que preferia o diálogo e as ações de sabotagem a um confronto armado. Como estavam na Coreia do Sul, Sam tinha que autorizar qualquer ação militar. Mas pelo menos o sinófobo Schneider assustava os norte-coreanos, papel que sempre alimentara com carinho... e que executava ao pé da letra.
Que ironia, pensava Donald enquanto entrava no QG do general, uma pequena armação de madeira composta de três salas e um quarto, no lado sul do complexo. Os dois (Schneider e Gregory) não podiam ser mais diferentes, entretanto pareciam “casar” juntos melhor que meias combinando. Talvez por serem contemporâneos que passaram dias difíceis, em tempo de guerras, ou então Schneider tinha razão quando chamava aquilo de a síndorme do Gordo e Magro: os diplomatas faziam as bobagens leves, e aí o Exército tinha que entrar e limpar a sujeira.
O general estava ao telefone quando Donald chegou e ele fez sinal para que entrasse. Depois de tirar o pó do assento, Donald se sentou num sofá branco de couro encostado à parede. Schneider era sempre avesso a limpeza.
– ...eu não dou a mínima para o que o Pentágono está dizendo – berrava ele, com a voz surpreendentemente alta e aguda para um homem de seu tamanho. – Eles mataram um soldado americano sem dar sequer um aviso à aeronave! O quê? Eu sei que estávamos no espaço aéreo deles. Mas eu também soube que eles usaram uma espécie de vodu cibernético para pôr uma venda nos olhos dos nossos espiões, portanto não tínhamos escolha. E isso não faz daqueles bostas um bando de sabotadores high tech? Ah, os tratados internacionais dizem que não? Muito bem, mande esses tratados à merda, senador. Deixe apenas lhe fazer uma pergunta: o que é que vamos fazer quando o próximo soldado americano morrer?
O general Schneider parou de falar, mas continuava inquieto. Seus olhos injetados moviam-se como maquininhas e os ombros arqueados como se fosse um touro aguardando o toureiro. Pegou um abridor de cartas e começou golpeá-lo contra uma almofada toda furada do Exército americano, que parecia estar ali justamente para aquele fim.
– Senador – falou, mais calmo, depois de quase um minuto calado – , não vou precipitar nenhum incidente e, se estivesse aqui, lhe daria um pontapé por ter chegado a insinuar isso. A segurança dos meus homens é mais importante do que a minha própria vida, ou a de qualquer um. Mas, senador, a honra do meu país é ainda mais importante do que todas essas vidas juntas e eu não vou ficar parado enquanto cospem em cima dela. Se o senhor não for da mesma opinião, eu tenho o número do telefone do jornal da sua cidade e talvez os seus eleitores passem a vê-lo de maneira diferente. Absolutamente... não o estou ameaçando. O que estou dizendo é que eu vou molhar as plantinhas até que o senhor crie algumas pedras. O Tio Sam já está com um olho roxo. Se derem um soco no outro olho, é melhor fazermos algo mais do que simplesmente pedir desculpas. Tenha um bom dia, senador.
O general bateu com o fone no gancho.
Donald pegou o cachimbo e começou a encher com fumo.
– Essa de molhar as plantinhas foi boa.
– Obrigado. – O general respirou fundo, deixou o abridor de cartas espetado na almofada e se endireitou. – Era o presidente do Comitê das Forças Armadas.
– Foi o que pensei.
– Deve estar com girassóis nas calças. Pensa que os peidos dele geram luz do dia. – Levantou-se e deu a volta na mesa.
– Não sei ao certo o que isso quer dizer – disse Donald – , mas caiu bem.
– Quer dizer que ele pega todos esses ideais elevados de merda e pensa que ser intelectual é que está certo. – Esticou as duas mãos e Pegou a de Donald entre as suas. – Dane-se. Como é que você está aguentando?
– Eu ainda acho que posso pegar aquele telefone e ligar para ela.
– Eu sei. Também fiquei assim por muitos meses quando a minha filha morreu. Pombas, às vezes eu ainda ligo o número dela sem pegar o telefone. É natural, Greg. Ela deveria estar lá.
Donald derramou algumas lágrimas.
– Droga...
– Meu caro, se precisa chorar, não se incomode. O trabalho pode esperar. Você sabe que Washington não gosta de bater de frente antes de testar todos os meios de se contornar a situação.
Donald balançou a cabeça e voltou a encher o cachimbo.
– Vou ficar bem. O que eu preciso é trabalhar.
– Tem certeza?
– Absoluta.
– Está com fome?
– Não, já comi com o Howard.
– Deve ter sido muito emocionante. – Schneider pôs a mão no ombro dele e apertou. – Brincadeira. O Norbom é gente boa. Só um pouquinho precavido demais. Ele jamais mandaria mais homens e equipamentos antes de ter certeza de que íamos entrar em Defcon 3. Mesmo na hora em que mataram o nosso oficial de reconhecimento.
– Eu ouvi falar quando vim para cá. Era uma mulher...
– Era, sim. Agora estivemos ouvindo na rádio do Exército norte-coreano que eles disseram que somos covardes por nos escondermos atrás de uma mulher. Vou dizer uma coisa a favor da Coreia do Norte: deve ser muito bom não ter que se preocupar com o politicamente correto. Já vão longe os dias em que você era o único diplomata na cidade. Agora todo mundo tem que ter uma língua dourada.
– As coisas não são mais como antigamente.
– Não, não são. Vou lhe dizer uma coisa, Greg. Eu fico aqui sentado e às vezes penso em largar tudo e voltar a costurar etiquetas em camisas, como na época em que eu era criança. Antigamente, se alguma coisa fosse justa ou necessária, era feita. Não tinha que se ir à ONU de chapéu na mão e pedir permissão à Ucrânia para testar bombas no nosso próprio deserto. Caramba, o general Bellini, que está lotado na OTAN, diz que viu uma entrevista na televisão com uns malditos franceses que ainda estão zangados com a gente por bombardear sem querer as casas deles no Dia D. Quem foi que pôs uma câmera em frente a esses infelizes e os deixaram falar? Que diabo aconteceu com o bom senso?
Donald estava sem fósforos e acendeu o cachimbo com o isqueiro em forma de granada que havia na mesa do general. Só depois de tirar o pino é que percebeu que podia não ser um isqueiro.
– O senhor mesmo disse, general. Televisão. Agora todo mundo tem uma arena para dizer o que pensa e não há um único político com personalidade suficiente para não prestar atenção. Você devia ter dito ao senador que tinha um amigo na equipe de jornalismo do programa 60 minutes. Isso talvez o tivesse balançado.
– Antes fosse – disse Schneider, enquanto se sentavam no sofá. Bem, talvez as coisas mudem de novo. É como aquele escravo nos Dez Mandamentos, que queria ver o Salvador antes de morrer, e aí chegou o Charlton Heston fazendo o papel de Moisés e o pegou justo quando ele levara uma machadada na barriga. É isso o que eu queria. Uma vez só, antes de morrer, queria ver a pessoa que vai nos salvar de tanta bobagem, que vai fazer o que é direito mesmo que leve uma machadada na barriga. Se eu não me preocupasse tanto com os meus homens, marcharia pessoalmente até Pyongyang e faria os caras pagarem pela oficial Margolin.
A reunião de estratégia foi rápida. Donald iria acompanhar a próxima patrulha, com um motorista próprio, um oficial de reconhecimento, uma câmera de vídeo digital adaptada para visão noturna e um jipe, penetrando duas vezes nos três quilômetros da Zona de Armistício. Passaria então as imagens ao Centro de Operações e faria outra estocada duas horas depois – tempo suficiente para verificar se alguma mudança visível havia ocorrido no coração da fronteira.
A viagem de ida e volta durou 35 minutos, sem incidentes, e o teipe digital foi passado a um oficial de comunicações, que o transmitiria a Bob Herbert.
Enquanto esperava a hora da próxima viagem, Donald ignorou a sugestão de Schneider de descansar um pouco e se dirigiu para a central de rádio, uma cabana de cinco cubículos, todos repletos de rádios, telefones e um computador com pastas grossas com sinais de intervalo (usados para identificar transmissões), a exata localização em graus e minutos de todos os locais de cada transmissão da Ásia e do Pacífico (bem como o azimute de radiação máxima, em graus, do norte verdadeiro da localidade), uma escala de frequências em kiloHertz para ajudar a indicar sinais específicos e um programa de resolução de problemas modelo SINPO para ajudar a resolver qualquer problema referente à potência do sinal, interferência, ruídos, propagação ou à qualidade geral do sinal.
Ficando com o cubículo vago do oficial de comunicações a quem dera o CD, Donald só se importou com um transmissor. E sabia que não haveria problema em mandar uma mensagem a um local a menos de oito quilômetros de distância.
Pelo computador, fez uma checagem dos transmissores na Zona de Armistício. Eram dois: um de ondas curtas, outro de ondas médias. Escolheu o primeiro, numa frequência de 3.350 kHz. Pegou o pequeno microfone e mandou uma breve mensagem:
“Ao general Hong-koo, comandante das forças da República Democrática Popular da Coreia na Base Um, Zona de Armistício.
O embaixador Gregory Donald o saúda e respeitosamente pede um encontro na zona neutra à conveniência do general. Pede um fim à escalada de hostilidades e espera que o senhor o atenda o mais cedo possível.”
Donald repetiu a mensagem e depois foi falar com Schneider. A equipe do general já lhe dissera o que Donald observara: que as fileiras estavam se fechando no front, com tanques e artilharia leve sendo transportados, juntamente com pessoal de apoio.
Schneider não estava nem surpreso nem preocupado com a escalada, embora desejasse que o general Sam permitisse que suas tropas pudessem fazer o mesmo. Mas Sam não agiria sem um de acordo de Seul e Seul não autorizaria uma coisa dessas até que o presidente Lawrence tivesse colocado a situação em Defcon 2 e consultado o presidente Ohn Mong-Joon. Donald sabia que não haveria Defcon 2 sem outro incidente como o do Mirage e que os dois presidentes evitariam se falar oficialmente até que eles e seus assessores tivessem decidido o que fazer. Assim, chegariam rapidamente a um consenso e mostrariam ao mundo como pensavam de um jeito único e decidido.
Enquanto isso, Donald sentou e esperou para ver se a Coreia do Norte aceitaria o seu convite. E, se aceitasse, se Schneider veria aquilo como o ato de um covarde ou de um Salvador.
Cinquenta
Quarta-feira, 1:20, aldeia de Yanguu
O sítio era de pedra, com telhado de sapê e um pequeno alpendre de madeira na frente. O que mantinha a porta no lugar era um gancho. A casa não tinha fechadura e havia duas janelas, com quatro vidros de cada lado. Parecia ser relativamente nova, nem o sapê, nem as pedras indicavam que tivessem sido expostos a mais de dois invernos chuvosos.
Cho olhou para Hwan, que assentiu. O motorista apagou os faróis, tirou uma lanterna do porta-luvas e saiu no que era novamente uma chuvinha fina. Quando abriu a porta de Kim, Hwan saiu.
– Prometo que não vou correr – disse a Hwan, com um toque de indignação. – Não há para onde se correr.
– Mas as pessoas sempre acabam correndo, srta. Chong. Além do mais, é o que manda o regulamento. Já quebrei as regras ao trazê-la para cá sem algemas.
Ela saiu do carro, com Cho se colocando logo ao seu lado.
– Eu mereci a bronca, sr. Hwan. Peço perdão.
Com isso, seguiu em frente e logo sumiu na escuridão. Cho tirou as chaves da ignição e correu até ela com a lanterna, Hwan indo logo atrás.
Kim suspendeu a tranca e entrou. Tirou um grande palito de fósforo de uma tigela de vidro e acendeu várias velas em cúpulas de vidro espalhadas pelo quarto. Enquanto ela não estava olhando, Hwan fez sinal a Cho para ficar lá fora, montando guarda. Ele saiu em silêncio-
À medida que uma luz laranja tomava conta do quarto, Hwan divisou o piano, uma cama de casal cuidadosamente arrumada, uma pequena távola com uma cadeira e uma mesa com porta-retratos. Seguiu-a com o olhar enquanto ela se movimentava pelo quarto – graciosamente, parecendo lidar tranquilamente com o que aquele dia lhe aprontara. Perguntou-se se isso era porque ela nunca se sentira realmente envolvida com aquele trabalho, ou se era por ter uma natureza confuciana, pragmática.
Ou, então, se ela não estava lhe aprontando a maior armadilha de sua vida.
Ele se aproximou. Não havia fotos de Kim e aquilo não o deixava surpreso. Se algum dia ela tivesse que fugir sem avisar, Pyongyang não ia querer as fotos de uma espiã onde a KCIA pudesse achá-las. Hwan pegou uma fotografia.
– Seu irmão e sua mãe?
Kim fez que sim.
– Muito bonitos. É aí que você morava?
– Era.
Ele colocou a foto no lugar.
– E esse sítio? Quem foi que construiu para você?
– Por favor, sr. Hwan. Sem mais perguntas...
Agora era Hwan quem levara um fora.
– Desculpe.
– Nós temos um acordo. Uma trégua.
Hwan caminhou até ela.
– Srta. Chong, não existe acordo algum. Talvez não entenda a nossa relação.
– Eu entendo perfeitamente. Sou sua prisioneira. Mas não vou trair o meu país cooperando com a KCIA e lamento a maneira como o senhor tenta conquistar minha confiança com perguntas sobre a minha casa e a minha família. Eu acho que já me comprometi trazendo o senhor aqui.
Hwan sentiu como se tivesse levado uma flechada. Não porque perguntara e levara um fora – era trabalho dele tentar saber se aquele sítio fora construído por gente do local ou por pessoas infiltradas de quem a KCIA talvez não tivesse conhecimento, e era trabalho dela impedi-lo de saber. Esse era o jogo. O que o irritava é que ela tinha toda a razão.
Kim Chong podia não ser uma espiã de coração, mas era patriota. E ele não iria cometer o mesmo erro de subestimá-la outra vez.
Enquanto Hwan ficava diretamente atrás dela, Kim sentou-se no banco de feltro em frente ao lado direito do piano e tocou uma série de compassos agudos de uma espécie de jazz que ele não reconheceu. Quando terminou, levantou o tampo e colocou ambas as mãos lá dentro. Ele a observava com toda a atenção. Se ela percebeu, não deu sinal. Com as duas mãos, desaparafusou cuidadosamente a porca de borboleta de um encaixe de metal, puxou-o para trás e tirou um pequeno rádio do compartimento. Do outro lado havia um suporte com o que parecia ser um detonador ligado à tampa.
Hwan reconheceu que o rádio era um Kol 38, último tipo, de Israel. A KCIA também estava negociando para comprá-lo. Com ele, o usuário podia atingir distâncias de até 1.200 quilômetros sem necessidade de satélite. Uma parte era para ouvir e a outra, para receber, o que possibilitava que agentes de campo fizessem uma “reunião telefônica” com o quartel-general. O rádio funcionava com levíssimas baterias de cádmio, que o tornava perfeito para localidades remotas como aquela. Nem os modelos americanos eram tão bons.
Ela foi até a janela, abriu e pôs o rádio no parapeito. Antes de ligar, pousou a mão casualmente no visor LED na parte de cima, para que Hwan não pudesse ver a frequência em que estava operando.
– Se você falar qualquer coisa, eles vão escutar. Já devem ter sido informados que eu caí.
Hwan concordou com a cabeça.
Kim apertou um botão e uma luz vermelha apareceu ao lado do microfone embutido no alto do aparelho.
– Oh-Miyo Seul para base, Oh-Miyo Seul para base. Câmbio.
Um nome de guerra operísíico, pensou Hwan. Perfeitamente adequado aos aconteámentos wagnerianos à nossa volta.
Após um momento, a voz chegou tão cheia e sem ruídos que Hwan se assustou.
– Base para Oh-Miyo Seul. Pronto. Câmbio.
– Base, preciso saber se botas do exército, explosivos e outros equipamentos foram roubados. KCIA encontrou esse tipo de pista no palácio, hoje. Câmbio.
– Há quanto tempo deve ter sido o roubo? Câmbio.
Kim olhou para Hwan. Ele mostrou dez dedos e com a boca mostrou meses.
– Dez meses – falou Kim. – Câmbio.
– Voltamos a chamar com qualquer informação. Câmbio desligo.
Kim desligou o rádio.
Hwan queria perguntar a ela se aquelas coisas eram gravadas em computador na Coreia do Norte, como acontecia na Coreia do Sul. Mas, em vez disso, perguntou:
– Quanto tempo deve demorar?
– Uma hora... Talvez mais.
Ele levou o relógio para perto de uma vela, depois olhou para a sombra de Cho, de pé, ao lado do carro.
– Vamos pegar o rádio e voltar.
Ela não se mexeu.
– Não posso fazer isso.
– Não tem escolha, srta. Chong. – Chegou mais perto. – Tentei ser educado com você...
– Nós dois ganhamos em...
– Não! E isso o que impede que nos tornemos animais. Mas eu preciso estar no comando da investigação e eu não posso fazer isso daqui. Prometo que ninguém vai olhar o visor do seu rádio. Vai me dar o que eu preciso?
Kim hesitou, depois colocou o rádio debaixo do braço e fechou a janela.
– Muito bem. Para impedir que nos tornemos animais.
Saíram. A lanterna foi ligada para iluminar o caminho e a silhueta escura ao lado do carro abriu a porta para Kim entrar.
Cinquenta e Um
Quarta-feira, 11:30, Centro de Operações
As caras de Ernesto Colon e Bugs Benet não podiam ser mais diferentes. Numa moldura vermelha na tela do computador de Hood, o rosto do secretário de Defesa, 63 anos, era pesado, com os olhos profundos rodeados de olheiras. Fora presidente de um dos maiores fornecedores de equipamento de defesa e servira como sub-secretário de Marinha. Agora, era o próprio retrato de Dorian Gray, um reflexo de todas as decisões que tivera de tomar nos dois anos em que estava no cargo – as poucas que tinham ido bem e as muitas que deram mal.
Bugs tinha 44 anos, uma cara redonda e angelical e olhos brilhantes que não transpareciam nem um pouco da pressão de administrar a agenda de Hood e preparar seus documentos. Fora secretário-executivo do governador republicano da Califórnia na época em que Hood, do Partido Democrata, era prefeito de Los Angeles. Ambos se davam extremamente bem – “conspiratoriamente” era a palavra que o governador tinha usado mais de uma vez.
Hood sempre achou estranho como a pressão de ficar sentado e tomar uma decisão era muito maior do que a de correr de um lado para o outro para executá-la. A consciência era a assassina do chefe.
Mesmo assim, Hood nutria um profundo respeito por Bugs, que não só aturava seu mau-humor, mas também as ordens e os ânimos de gente como Colon – ou Bob Herbert, que ficava um pouquinho atrás de Lowell Coffey no papel da voz da prudência no Centro. A diferença era que Coffey temia processos e moções de censura, enquanto Herbert conhecia bem demais as consequências de não se medirem todas as possibilidades.
Benet e Herbert praticamente só ficaram ouvindo enquanto Hood e Colon reliam as fichas de simulação no computador e formulavam as alternativas militares que iriam recomendar ao presidente. Embora o timing e os detalhes de execução fossem deixados para o chefe do Estado-Maior em parceria com os comandantes de campo, os homens do Centro pensavam que as forças da Marinha e os fuzileiros que para lá já se dirigiam, vindos do oceano Índico, deveriam ser suplementados por três couraçados e dois porta-aviões da frota do Pacífico, além de se chamar reservas e se remanejar cinquenta mil homens da Arábia Saudita, Alemanha e dos Estados Unidos. Também pediam o envio imediato, por via áerea, de meia dúzia de sistemas de mísseis Patriot para a Coreia do Sul. Embora o desempenho dos Patriots na Guerra do Golfo tenha ficado muito abaixo do esperado, proporcionaram boas imagens para os telejornais e era vital que o sangue que corresse nas veias das pessoas fosse vermelho, branco e azul. De um modo menos visível, mísseis táticos nucleares deveriam ser transportados por via aérea do Havaí para a Coreia do Sul. A Coreia do Norte podia não ser ainda uma potência nuclear, mas isso não os impedia de comprar uma bomba de um sem-número de países.
Os homens também calcularam e anteciparam as baixas de uma “guerra curta”, de duas a três semanas antes que a ONU patrocinasse um armistício, e uma “guerra longa”, de seis meses ou mais. Sem ataques nucleares, as baixas americanas estavam previstas para serem de no mínimo quatrocentos mortos e três mil feridos, no caso de guerra curta, e pelo menos dez vezes mais, na hipótese de uma guerra longa.
Durante essa discussão, Bugs se manteve em silêncio e Herbert fez apenas três sugestões. A primeira, a de que, até que se soubesse mais sobre os terroristas, só se devia remanejar um mínimo de tropas do Oriente Médio. Ele ainda acreditava na possibilidade de aquilo ser um plano para envolver os Estados Unidos num falso conflito, enquanto uma guerra verdadeira explodiria em outro lugar. A segunda era de que, até os satélites voltarem a funcionar, ele tivesse mais tempo para analisar qualquer informação de última hora que ele e o Kidd, diretor da CIA, pudessem recolher antes de comprometer as tropas.
E a terceira era de que nenhuma tropa devia ser posta em combate sem a presença de antiterroristas experientes. Todas as sugestões foram incluídas na lista de alternativas militares. Hood sabia que Herbert podia ser amargo, mas ele o havia contratado pelos seus conhecimentos, e não pela simpatia.
Enquanto Bugs passava o rascunho do documento na tela para que os homens revisassem, o telefone na cadeira de Herbert tocou. Paul olhou para ele, enquanto Bob apertava o botão de falar.
– O que conseguiu, Rachel?
– Recebemos notícias do nosso agente na estação de comunicações militares em Pyongyang. Disse que foi difícil falar conosco porque as autoridades locais parecem tão surpresas quanto nós pelos acontecimentos de hoje.
– O que não quer dizer que estejam com as mãos limpas.
– Não. Mas ele disse que os norte-coreanos receberam uma mensagem de uma agente em Seul, pedindo informações sobre um possível roubo de botas militares e explosivos de alguma base na Coreia do Norte.
– Uma agente da Coreia do Norte perguntou isso?
– Exatamente.
– A agente deve ter sabido das suspeitas da KCIA. Informe ao diretor Yung-Hoon que parece haver um vazamento no oleoduto. Nós captamos essa transmissão em algum outro lugar?
– Não. Verifiquei com o praça Koh, do centro de comunicações da Zona de Armistício. A mensagem não foi mandada via satélite.
– Obrigado, Raquel. Mande o texto da transmissão para o Bugs.
– Depois de desligar, olhou para Hood, que assentiu. – A Coreia do Norte está investigando um possível roubo em seus depósitos do material utilizado na explosão. Parece que todos nós estamos sendo envolvidos, chefe, por alguém que quer nos ver numa guerra.
Hood olhou de Herbert para o monitor, enquanto as palavras do presidente voltavam a atormentá-lo: Se a Coreia do Norte não estava metida nisso, Paul, agora está até o nariz.
Enquanto os desdobramentos dos movimentos de tropas do arquivo de jogos de guerra eram misturados com a lista de alternativas militares, Colon usou seu código para assinar a sua parte no documento. Quando desligou, Hood falou:
– Bugs, eu quero essa transmissão colocada bem no início e quero que acrescente a observação que eu vou digitar. Por favor, peça à Ann Farris para entrar na linha.
Hood pensou um instante. Não tinha o poder de concisão de Ann, mas queria que um aviso de prudência fosse inserido em algum lugar do arquivo permanente da Força-tarefa sobre a crise. Desenhou uma janela que Ann era capaz de ler no monitor e passou a correr os dedos pelo teclado.
Herbert rolou a cadeira para o lado dele e leu por sobre o ombro.
“Sr. Presidente: compartilho sua indignação pelo ataque ao nosso jato e a perda de um oficial. Entretanto, peço-lhe para que evite tomar uma medida de força. Temos muito a perder e pouco a ganhar ao travar uma batalha com um adversário que pode não ser nosso inimigo.”
– Muito bem, chefe – disse Herbert. – Pode não estar falando pela Força-tarefa, mas está falando por mim.
– Por mim também – disse Ann. – Eu não teria feito melhor. Hood salvou o adendo e pôs a cara de Ann no monitor. Era tão boa em vender ideias por telefone aos repórteres que ele não tinha como saber o que ela realmente achava, a não ser que visse seu rosto.
E ela pensava exatamente o que tinha dito. Nos seis meses desde que a conhecera, era a primeira vez que não implicara com algo que ele escreveu.
Herbert saiu da sala, Ann voltou à ligação que estava tendo com a porta-voz da Casa Branca e Hood acabou de reler a lista atualizada de alternativas antes de pedir a Bugs que enviasse pela linha segura do fax. Sozinho e surpreendentemente calmo pela primeira vez naquele dia, ele ligou para o hospital, onde a notícia que recebeu não era o que esperava ouvir.
Cinquenta e Dois
Quarta-feira, 1:45, Zona de Armistício
Os soldados na central de rádio estavam rindo da cara do praça Koh quando chegou a mensagem do general Hong-koo, comandante das forças da República Democrática Popular da Coreia. Imediatamente ficaram alerta, sem rir mais do praça que pegara dois turnos seguidos. Repassaram as coordenadas gravadas pela antena direcional para se certificarem de que a mensagem tinha vindo realmente do outro lado da Zona de Armistício e, isto feito, checaram o diretório do computador para confirmar que o interlocutor era, de fato, o ajudante-de-obras Kim Hoh. O computador procurou nos arquivos e, segundos depois, a identificação da voz havia sido completada. Finalmente, menos de trinta segundos depois da recepção do sinal, mandaram um aviso de que tinham recebido e ligaram o gravador duplo para gravar a mensagem e uma cópia. Um homem foi avisar ao general Schneider que chegara uma comunicação da Coreia do Norte. O soldado recebeu a ordem de levar a mensagem até ele, assim que estivesse tudo pronto.
Koh parecia ser o mais atento dos cinco, ouvindo o comunicado que chegava:
Ao ex-embaixador Gregory Donald, na Base Charlie. General Hong-koo, comandante das forças da República Democrática Popular da Coreia na Base Um, Zona de Armistício, o saúda também e aceita o seu convite para uma reunião na zona neutra às oito horas em ponto.
Enquanto um dos homens dizia, pelo rádio, que a mensagem fora recebida, outro saía correndo com uma cópia da fita e um gravador para o alojamento do general Schneider.
Koh disse aos outros dois que ficaram que estava se sentindo um pouco cansado e ia sair para tomar café e fumar um cigarro. Uma vez do lado de fora, dirigiu-se até as sombras de um caminhão e retirou a camisa. Havia um telefone celular M2 preso à parte superior de seu braço. Desdobrando-o, puxou a antena e teclou o número de Lee.
– É melhor ter uma explicação bem curta e convincente para isso – disse Schneider, quando Gregory entrou – porque pelotões com sono me deixam nervoso.
O general estava de pijama e robe, segurando um gravador e um headphone na mão direita.
O coração de Donald acelerou. Não estava preocupado com o general Schneider, mas com a resposta do norte.
Pegou o gravador, encostou um lado do headphone no ouvido e escutou a mensagem. Quando acabou, ele disse:
– A explicação é que eu pedi essa reunião e consegui.
– Então foi você que fez essa bobagem? Ilegalmente, da central de rádio pela qual eu sou responsável!
– Foi. E espero que todos nós possamos ser razoáveis e evitar uma guerra.
– Nós? Gregory, eu não vou me sentar à mesa com o Hong-koo do outro lado. Você pode achar que marcou um gol conseguindo essa reunião, mas ele vai usá-lo. Por que acha que ele pediu algumas horas? Para que possam planejar tudo. Você vai ser fotografado tentando ser gentil, e o presidente vai parecer que está sendo agredido dos dois lados...
– E não está?
– Nesse assunto, não. O pessoal do Colon diz que ele se comportou como um tigre desde o começo, exatamente como devia. Esses merdas explodiram uma bomba no centro de Seul, mataram a sua mulher, Gregory...
– Nós não sabemos ainda – disse Donald, entre dentes.
– Bem, mas nós sabemos que eles derrubaram um avião nosso, Greg. Temos um defunto como prova.
– Foi uma reação exagerada, que é exatamente o que não devíamos fazer...
– Defcon 3 não é uma reação exagerada. E a manobra correta e o presidente ia parar por aí e provocar uns calafrios neles. – Schneider se levantou e meteu a mão no bolso. – Pombas, quem é que vai adivinhar o que ele vai fazer depois de receber a sua cartinha de amor?
– Está levando isso às últimas consequências.
– Não, não estou. Você realmente não consegue entender, não é? Pode estar deixando o presidente num xeque-mate.
– De que maneira?
– O que vai acontecer se você faz uma oferta de paz e a Coreia do Norte aceita, em princípio, mas não recua um só homem até que o presidente aja primeiro? Se ele se recusar, vai parecer que jogou fora uma chance para a paz. E se aceitar, vai parecer que tremeu.
– Bobagem!
– Pense nisso, Gregory! E que tipo de credibilidade acha que ele vai ter se parecer que você é que está cuidando da política externa dele? O que é que nós vamos fazer da próxima vez que um Saddam Hussein ou um Raul Cedras der uma mostra de força ou algum maluco mande mísseis para Cuba. Vamos chamar o grande Gregory Donald?
– Pode-se perfeitamente conversar. Tentar um diálogo. Enquanto Kennedy estava ocupado com o boicote a Cuba, negociava com Khrushchev como um louco a retirada de alguns mísseis americanos da Turquia. Foi isso o que encerrou a crise, e não o poder naval. O diálogo é o que as pessoas civilizadas fazem.
– Hong-koo não é civilizado.
– Mas os patrões dele são e não houve nenhum contato direto de alto nível com a Coreia do Norte desde hoje de manhã. Meu Deus, não é possível que pessoas adultas fiquem brincando com coisas assim. Os diplomatas se acovardam. Se eu puder abrir um diálogo, mesmo com Hong-koo...
– E eu estou lhe dizendo que falar com eles não vai adiantar nada. Ele está à direita de Gengis Khan e, com Deus por testemunha, aviso que vai deixá-lo numa sinuca.
– Então venha comigo e me ajude.
– Não posso. Eu já falei. Essas pessoas entendem de propaganda. Vão usar um filme granulado, preto-e-branco, e bater fotos de mim como se estivesse cheirando bosta de cachorro, como se eu fosse um prisioneiro de guerra. As pombinhas em Washington vão ficar uma fera. – Ejetou a fita do gravador e bateu de leve nela, na palma da mão. – Greg, fiquei muito triste por você quando soube da Soonji. Mas o que quer fazer não vai impedir que alguém morra. Existem mais de um bilhão de comunistas logo ali na esquina e um bilhão de outros radicais, fanáticos religiosos, adeptos da limpeza étnica, psicopatas e Deus sabe o quê. A minha função é cuidar dos outros três bilhões de habitantes do planeta, Gregory. Tudo que um diplomata pode fazer é ganhar tempo – às vezes para o lado errado, como aconteceu com o Chamberlain. Não se pode ser razoável com gente psicótica, Greg.
Donald olhou para o cachimbo.
– Eu sei... Posso entender.
Schneider olhou para ele estranhamente, e depois para o relógio.
– Você ainda tem seis horas. Acorde com uma dor de estômago e cancele o encontro. Enquanto isso, no que diz respeito a essa base, o seu primeiro comunicado nunca existiu. Apagamos a mensagem do arquivo e deletamos as coordenadas que você usou. – Levantou o gravador. – Essa é a primeira vez que nós ouvimos falar do encontro. Quando eles entraram em contato. Se a Coreia do Norte disser que você mandou uma mensagem primeiro, negaremos. Se vierem com uma fita, vamos dizer que é falsificada. Se você falar alguma coisa contra nós, vamos dizer que estava fora de si de tanta tristeza. Lamento, Greg, mas é assim que vai ter que ser.
Donald continuou olhando para o cachimbo.
– E se eu convencer Hong-koo a retirar as tropas?
– Não vai.
– Mas, e se eu convencer?
– Nesse caso, o presidente vai ficar com toda a fama de ter mandado você lá, você vai ser um puta herói e eu mesmo vou pregar a medalha em seu peito.
Cinquenta e Três
Quarta-feira, 2:00, aldeia de Yanguu
Kim entrou no carro, apertando o rádio portátil contra o corpo para protegê-lo da chuva fina.
Hwan olhava-a com atenção. Certa vez um prisioneiro, as mãos algemadas às costas, conseguira usar a mola do fecho de um cinto de segurança para se soltar e fugir. Mas Hwan não estava olhando para Kim por medo de que ela fugisse. Ela já teria tentado isso antes, quando estavam sozinhos. Observava-a porque ela o fascinava. O patriotismo e o humanismo raramente convivem em perfeita harmonia, mas Kim tinha ambos na medida certa. Ele lutava para também ser assim e geralmente não conseguia. Era impossível meter-se no lado mais obscuro da vida das pessoas sem se sujar...
Seus pensamentos foram cortados por um movimento brusco à direita, a luz da lanterna se remexendo toda, e depois seguiu-se uma dor de matar, ao lado do corpo. Engasgou alto quando o primeiro baque esvaziou-lhe os pulmões, seguido por outro que fez a perna direita balançar e perder a sensibilidade. Tentou agarrar a porta do carro, ainda aberta, para não cair. Não conseguiu, se contorceu e acabou caindo de encontro à beirada do assento. Quando se debateu para pegar o.38 no coldre do ombro, olhou para Cho.
Só que não era Cho. A luz do carro refletia um brilho pequeno e amarelo no chapéu e num rosto que ele não conseguiu reconhecer, de expressão rígida e cruel.
– Maldita, pensou, ao contorcer-se de dor. Tinha alguém aqui esse tempo todo...
Sua mão estava dormente e ele não conseguia fazer os dedos envolverem a arma. A parte direita do rosto ficou úmida, ao passo que ele escorregava para o chão.
Hwan viu uma faca de vinte centímetros manchada com seu sangue. Foi recuada, à altura do estômago. Não teria como impedir o golpe de acertá-lo no peito, abaixo e acima do esterno, depois viria um lampejo de agonia e aí a morte. Muitas vezes já tinha pensado como e quando morreria, mas nunca daquela maneira, esticando as canelas na lama.
E se sentindo um idiota. Notou que ela se inclinava sobre ele. Havia confiado nela e esperava que colocassem aquilo em seu epitáfio como um alerta. Isso, ou então Que imbecil...
O revólver de Hwan escorregou do coldre na hora em que ele caiu na terra molhada. Esticou a mão num reflexo, apertando o ferimento com a mão esquerda, lutando para manter os olhos abertos para que enfrentasse a morte com o pouco de dignidade que ainda lhe restava. Viu o assassino com as roupas de Cho sorrir e depois houve um flash rápido como um raio, seguido por um segundo e um terceiro. As espocadas rápidas tinham ocorrido a cerca de meio metro acima dele e ele fechou os olhos, enquanto o calor tomava conta de seu corpo. O estouro ecoou por um instante, depois passou e só restou a chuva lhe batendo no rosto e o calor que fazia o lado de seu corpo latejar.
Kim veio por cima dele e se ajoelhou. Esticou a mão para pegar a faca e, por um momento de confusão, ele não conseguiu entender por que não tinha sentido os tiros... e porque ela haveria de esfaqueá-lo em vez de atirar.
Ele devia estar se contorcendo porque ela pediu para ele ficar parado. Tentou relaxar e percebeu o quanto doia respirar.
Kim retirou a camisa dele do cinto, cortou um pedaço da lateral e pegou a lanterna. Depois de dar uma olhada nos ferimentos, levantou-se e pulou sobre ele. Hwan ergueu a cabeça e viu que ela tirava as meias e os sapatos do assassino, depois arrancou o cinto. Hwan caiu pra trás, agora respirando aos soluços.
– Ch-Cho...? – falou.
– Eu não sei onde é que o corpo dele está.
O corpo dele...
– Esse homem deve ter nos seguido. Não me pergunte, que eu não sei quem ele é.
Não... estão com Kim... são os terroristas...
Kim passou o cinto pela cintura de Hwan, mas não apertou. Pôs uma meia em cada ferimento.
– Isso pode doer – disse, enquanto apertava o cinto com força.
Hwan engasgou enquanto a dor o tomava da axila direita até o joelho. Ficou deitado, gemendo, enquanto Kim se colocou por trás, pegou-o pelos braços e o puxou para o banco traseiro do carro.
Enquanto ela colocava o rádio no chão, Hwan tentou se levantar, apoiado num cotovelo.
– C-calma... o corpo...
Ela o ajeitou no encosto e procurou amarrá-lo com o cinto de segurança.
– Eu não sei onde é que está o Cho!
– Não! Impressões... digitais...
Kim entendeu. Fechou a porta, abriu a do lado do passageiro e puxou o morto para dentro. Depois correu para a porta do motorista e já ia entrando quando parou.
– Tenho que achar o Cho! – disse, ao sair outra vez.
Ligou a lanterna, apontou a luz para o chão e seguiu as pegadas do assassino. Embora houvesse pressa em seus movimentos, externamente parecia calma. As pegadas levavam a uma ravina com mato bastante denso, a quarenta metros da cabana, onde achou uma lambreta e o motorista. Cho estava deitado de cabeça para baixo no barranco, de frente, com o meio do peito todo escuro de sangue.
Deslizando na sujeira até ficar ao lado de Cho, Kim remexeu freneticamente os bolsos dele até achar as chaves. A seguir, correu de volta para o carro.
Hwan estava deitado em silêncio, segurando o lado do corpo. Os olhos estavam bem fechados e ele arfava de dor. Quando ouviu o ronco do motor, abriu os olhos.
– O rádio... do carro...
Kim engatou a marcha e ganhou velocidade rapidamente.
– Quer que eu conte sobre o que aconteceu?
– Quero... – O cinto apertava sua carne e ele procurou não se mexer. – Preciso... da identidade... rápido.
– Do assassino? Das impressões digitais?
Hwan não teve forças para dizer que sim. Apenas assentiu com a cabeça, sem ter certeza se Kim estava vendo, depois ouviu-a falar no rádio. Tentou se lembrar exatamente do que pensara sobre ela, mas cada respiração, cada sacolejo do carro fazia um choque correr por seu corpo. Tentou não se mexer, enfiando o cotovelo direito no buraco atrás do banco e apoiando a mão esquerda no banco da frente, numa tentativa de se apoiar. Sentiu como se houvesse uma faixa dentro dele, apertando, jogando-o para a direita. Imagens e pensamentos passavam por sua cabeça, enquanto ele lutava contra a dor e procurava se manter acordado.
– Ele não era da Coreia do Norte... senão, ela não teria atirado... mas quem da Coreia do Sul... e por quê?...
E aí o fogo atingiu o seu cérebro, a dor açoitando-lhe sem piedade até perder a consciência.
Cinquenta e Quatro
Terça-feira, 12:30, Centro de Operações
O dr. Orlito Trias estava no quarto de Alexander quando Hood telefonou para lá. Ele tinha um jeito de Frankenstein, mas era bom médico e um cientista dedicado.
– Paul – disse ele, com um forte sotaque filipino – , ainda bem que você ligou. O seu filho está com um vírus.
Hood sentiu um calafrio. Havia um tempo, antes da Aids, em que a palavra sugeria um problema que podia ser facilmente curado com antibióticos.
– Que tipo de vírus? Em linguagem de leigo, Orly.
– O menino teve um infecção brônquica aguda há duas semanas. Parecia que a infecção estava curada, mas o adenovírus se alojou nos pulmões. Tudo o que foi preciso para disparar a crise foram os ácaros no ar, e foi por isso que a cortizona e a medicação broncodilatadora não funcionaram. Não se trata de um ataque de asma comum. É uma espécie de doença pulmonar obstrutiva.
– E como é que se trata?
– Com terapia antivirótica. Conseguimos pegar a infecção relativamente cedo e temos motivos para acreditar que ela não vai se alastrar.
– Motivos para acreditar...?
– Ele está fraco e esses vírus são muito oportunistas. Nunca se sabe.
Meu Deus, Orly.
– A Sharon está com você?
– Está.
– Ela sabe? – perguntou Hood.
– Sabe. Falei para ela exatamente o que estou dizendo a você.
– Deixa eu falar com ela. E obrigado.
– De nada. Vou manter contato de hora em hora, mais ou menos.
Após um momento, Sharon entrou na linha.
– Paul...
– Eu sei. O Orly não tem o menor futuro na ONU.
– Não é isso – disse Sharon. – Saber é melhor. O problema é a espera. Você sabe que eu nunca fui boa nisso.
– Vai ficar tudo bem com o Alex.
– Você não sabe se vai ficar bem. Eu já trabalhei em hospital, Paul. Eu sei como essas coisas podem sair de controle.
– O Orly não iria embora se a situação fosse tão séria.
– Paul, ele não pode fazer nada! É por isso que ele está indo embora.
Ann entrou na sala, com o almoço nas mãos. Parou imediatamente à porta, ao ver a cara de Hood.
Bugs mandou uma mensagem rolando pelo computador. Colon, o secretário de Defesa, queria falar com ele.
– Escuta – disse Sharon – , eu só não telefonei antes porque não queria que você largasse tudo o que estava fazendo e viesse para cá. Só queria um apoio, está bem?
Hood detectou uma quebra na voz dela. Estava se controlando para não chorar.
– É lógico que está tudo bem, Sharon. Telefone se alguma coisa acontecer... Ou eu ligo assim que puder.
Ela desligou e Hood passou do telefone comum para a linha segura do computador. Sentia-se um marido inferior, um pai inferior e, especialmente, um homem inferior.
– Paul – disse Colon, sério – , acabamos de saber que o seu homem Donald mandou uma mensagem por rádio para a Coreia do Norte, sem autorização, pedindo um encontro com o general Hong-koo.
– O quê?
– Pior ainda. Eles aceitaram. Se isso vazar, vamos dizer que foi o norte que entrou em contato com ele, mas é melhor pegar o telefone e fazê-lo desistir da ideia. O general Schneider já fez tudo o que pôde para dissuadi-lo, mas Donald realmente quer ir à reunião.
– Obrigado – disse Hood e tocou a campainha para Bugs. Mandou que contatasse a Zona de Armistício pela linha segura e chamasse Donald ao telefone. Depois, ligou para Liz Gordon e pediu que ela viesse a sua sala.
– Quer que eu deixe o almoço aqui e vá embora? – perguntou Ann.
– Não. Quero que fique.
Seu rosto se iluminou.
– É capaz de termos um pesadelo de relações públicas nas mãos.
Seu semblante tornou-se sombrio.
– Claro – disse ela. Sentou-se do outro lado da mesa e colocou o almoço entre eles.
– O que houve com Alex?
– O Trias disse que ele está com uma infecção pulmonar. Acha que está sob controle, mas você o conhece. Nem sempre sabe lidar com as pessoas.
– Hummm – fez Ann, os olhos cada vez mais sombrios.
Hood pegou o garfo e o enfiou numa rodela de tomate.
– E o Matt com o vírus dele? Alguma novidade?
– Que eu saiba, não. Quer que eu dê uma olhada?
– Não, obrigado. Eu mesmo faço isso depois de falar com o Gregory. O coitado deve estar num verdadeiro inferno. A gente se envolve tanto com as coisas aqui que acaba se esquecendo das pessoas.
O telefone de segurança tocou na hora em que Lowell Coffey e Liz Gordon estavam entrando. O prefixo e o número de Donald apareceram no visor, na parte inferior da tela. Hood fez sinal a Liz para fechar a porta. Ela se sentou e Coffey ficou atrás de Ann, que se remexeu, incomodada. Hood apertou o botão de viva voz.
– Gregory, como é que você vai?
– Bem, Paul. Você está na linha segura?
– Estou.
– Ótimo. E está em viva voz?
– Estou.
– Quem está aí com você? A Liz, a Ann e o Lowell?
– Acertou em cheio.
– Lógico. Então vamos direto ao assunto. Mandei uma mensagem para o Hong-koo e ele respondeu. Vou encontrá-lo dentro de cinco horas e meia. Por que dar tiros quando se pode disparar palavras? Sempre foi o meu lema.
– É um bom lema, Greg, mas não com a Coreia do Norte.
– Foi exatamente isso o que o general Schneider disse quando me deu um ultimato. Vai me deixar ser levado pelo vento. E parece que Washington também, pelo que me disseram. – Hesitou um instante. – E você, Paul? Também vai?
– Só um minuto.
Hood apertou a tecla mute e olhou para Liz. Com o canto do olho, viu Ann indicar que sim, solenemente. Lowell não se moveu. A psicóloga mordeu o lábio e balançou a cabeça.
– Por que não? – indagou Hood.
– Como aliado, é capaz de fazê-lo mudar de ideia. Se for adversário, não vai nem ouvi-lo.
– E se eu o despedir?
– Não muda nada. É um homem que passou por um choque muito grande hoje, que acha que está se comportando com cautela e compaixão, uma reação comum, e ninguém vai convencê-lo do contrário.
– Lowell, e se o Schneider o acusar de alguma coisa, como apropriação indébita de equipamento de governo, quando fez a transmissão, e o prender...
– O julgamento vai ser uma festa e nós talvez tenhamos que revelar coisas que não desejamos sobre o nosso modo de trabalhar.
– E se só segurarmos o Gregory por 24 horas? Por razões de segurança, ou alguma bobagem desse tipo.
– Ele pode entrar com um processo e o resultado é o mesmo.
– Mas não vai – disse Liz. – Eu li o dossiê dele quando você o indicou, Paul. Ele nunca fez nada por vingança. Esse era um dos Problemas que ele tinha como diplomata. Um verdadeiro cristão.
– Ann, que tipo de imprensa existe lá?
– A rigor, nenhuma. Todos os jornalistas têm base em Seul. Mas estou certa de que os repórteres já estão lutando para obterem credenciais e em breve estarão a caminho. Vão procurar cobrir todo tipo de história, especialmente a detenção de um ex-diplomata de primeiro nível.
– E o que a imprensa vai fazer com a gente se o Donald for à reunião e descobrirem que ele tem ligações com o Centro? Vão nos mostrar como um bando de doidos que trabalha à margem do sistema.
– Eu detesto concordar com o Lowell – disse Ann – , mas ele tem razão.
– O Donald não vai dizer nada – sentenciou Liz – nem se estiver com raiva. Para o mundo, ele só trabalha para a Sociedade de Amizade Americano-Coreana.
– Mas o Schneider sabe a verdade – disse Lowell – e mesmo assim não deve estar contente com essa situação.
– Não está – disse Hood.
– Pronto! Ele pode vazar essa história para a imprensa, só para pôr um freio no Donald.
– Eu não acho que tenhamos que nos preocupar com isso – disse Hood. – Ele não vai querer deixar o presidente numa situação difícil, expondo a organização que o próprio Lawrence criou. – Hood tirou o telefone do mute. – Greg, será que você poderia adiar isso até eu conseguir que alguém da Embaixada fosse até aí?
– Por favor, Paul. A embaixadora Hall jamais iria concordar com isso sem a aprovação do presidente e isso vocês não vão conseguir.
– Adie a reunião e deixe-me tentar. Mike Rodgers está a caminho do Japão. Vai aterrissar em Osaka lá pelas seis. Deixa eu falar com ele para que encontre você.
– Nota dez pelo esforço, mas você sabe muito bem que, se eu adiar um minuto sequer, a Coreia do Norte vai achar que estou brincando com eles. São muito sensíveis nesse tipo de coisa e não vão me dar uma segunda chance. Eu vou. O que eu quero saber é: você está do meu lado ou contra mim?
Hood ficou sentado totalmente quieto por um instante, depois olhou para os rostos dos parceiros.
– Estou com você, Greg.
Seguiu-se um longo silêncio do outro lado da linha.
– Você me surpreendeu, Paul. Pensei que fosse me despedir.
– Eu também, por um instante.
– Obrigado pela sua compreensão.
– Eu o contratei por sua experiência. Vamos ver se agi bem. Se quiser falar comigo de novo, vou estar aqui.
Hood desligou. Vendo que a rodela de tomate ainda estava no garfo, comeu. Liz fez para ele um rápido sinal de positivo. Ann e Lowell só ficaram olhando.
Hood apertou o interfone.
– Bugs, veja como está indo o Matt.
– Um instante só.
Lowell falou:
– Paul, isso vai acabar com o Donald... e com a gente.
– O que você queria que eu fizesse? Ele ia de qualquer jeito e eu não posso deixar um dos meus sozinho. – Mastigava devagar. – Além do mais, ele até pode conseguir alguma coisa. E um homem bom.
– Exatamente – disse Ann – , como todo mundo sabe. E quando o vídeo de Donald com os norte-coreanos passar nos telejornais desta noite, a imagem de um homem que perdeu a esposa e ainda é capaz de perdoar, todo mundo aqui vai estar procurando emprego.
– Não tem nada demais – opinou Coffey. – Podemos trabalhar para a Coreia do Norte. Vão ficar nos devendo uma.
– Tenham fé – disse Hood. Apontou o dedo para Coffey e Ann.
– Vocês dois, tratem de preparar um plano para o caso de ele estragar tudo.
O telefone bipou e Hood atendeu. Era Stoll.
– Paul – disse ele – , eu estava para chamar você. É melhor vir aqui e ver o que encontrei.
Hood logo se pôs de pé.
– Resuma a situação.
– Resumindo, armaram contra a gente. E bem.
Cinquenta e Cinco
Quarta-feira, 2:35, cordilheira do Diamante
Os mísseis Nodong não passavam de Scuds modificados pela Coreia do Norte.
A constituição era basicamente idêntica, um estágio com uma carga de até cem quilos e alcance de oitocentos quilômetros – com quarenta quilos de altos explosivos, um Nodong podia voar quase mil quilômetros. O grau de precisão era um raio de oitocentos metros do alvo pretendido.
Tal como os Scuds, os Nodongs podiam ser disparados de bases fixas ou lançadores móveis. Os silos lançadores possibilitavam que se disparassem várias cargas de mísseis por hora, mas eram extremamente vulneráveis a retaliações do inimigo. Lançadores móveis só podiam portar um míssil e tinham que ser transportados para paiós camuflados para serem recarregados.
Tanto os lançadores fixos como os móveis funcionavam num sistema de ativação única, já que as coordenadas de lançamento eram programadas num computador. Ao girar a chave, iniciava-se uma contagem regressiva de dois minutos, durante a qual a ordem de lançamento só podia ser interrompida através da chave e de um código de cancelamento. O único que conhecia o código era o oficial responsável. Se ele não estivesse em condições de fornecer o código, o segundo homem na hierarquia tinha que obter o código da capital Pyongyang.
O Nodong tinha um sistema não muito sofisticado, em comparação com outros mísseis. Mas era eficiente em seu propósito de tornar verdadeiras as ameaças de destruição de Seul pelo ar. Mesmo com os mísseis Patriot no lugar, o perigo continuava a ser real. Desenhados para encontrar e derrubar o míssil, o Patriot, no entanto, costumava deixar a ogiva intacta, permitindo que caísse e explodisse em algum lugar da região do alvo.
O coronel Ki-Soo era o oficial encarregado do sítio da cordilheira do Diamante e, quando o vigia adiantou pelo rádio que o coronel Sun tinha chegado, foi tomado de surpresa. Descansando na tenda situada ao pé de uma montanha íngreme, o oficial careca e de rosto oval se levantou e saudou o jipe, quando ele chegou. Sun passou suas ordens sem que fossem pedidas e Ki-Soo se retirou para a tenda com blecaute.
Depois de se fechar lá dentro, ligou a lanterna, tirou os papéis da pasta de couro e desdobrou a única folha:
Escritório do Alto Comando
Pyongyang, 15 de junho, 16:30
De: coronel Dho Oko
Para: coronel Kim Ki-Soo
O coronel Lee Sun foi enviado pelo general Pil, das Operações de Espionagem, para supervisionar a segurança dos mísseis sob seu comando. Ele não vai interferir em sua operação, a não ser que isso afete diretamente a segurança local.
Afixados ao fim do documento estavam os selos do general das Forças Armadas e do general Pil.
Ki-Soo dobrou cuidadosamente o papel e o pôs de volta na pasta. Era perfeitamente autêntico, mas alguma coisa parecia estar errada. Sun tinha vindo com dois agentes – um para guardar cada míssil, que era uma atitude sensata. Mesmo assim, havia alguma coisa estranha.
Olhou para o telefone de campo e pensou em ligar para o quartel-general. Lá fora, as botas pisavam com barulho no pedrisco. Ki-Soo apagou a luz e puxou a ponta da tenda de lado. O coronel estava de pé, no escuro, olhando para a tenda. Estava com as mãos nas costas e o corpo, rígido.
– Tudo em ordem?
– Parece que sim – disse Ki-Soo. – Embora eu esteja curioso sobre uma coisa.
– E o que é?
– Geralmente, as ordens mencionam o número de homens na comitiva e essa, não.
– Mencionam, sim. Eu.
Ki-Soo olhou para o outro homem, de pé ao lado do jipe. Apontou com o polegar.
– E aquele?
– Ele não é agente. O nosso departamento está neste momento com falta de homens. Esse aí foi designado para me acompanhar pelas montanhas. Vai ficar aqui para me levar de volta. É a sua única função.
– Entendo. – Passou a pasta para Sun. – Use a minha tenda à vontade. Se quiser, posso mandar buscar comida.
– Não, obrigado. Eu gostaria de dar uma volta pelo perímetro e verificar onde podemos estar vulneráveis. Se eu precisar de alguma coisa, aviso.
Ki-Soo assentiu, enquanto Sun voltou para o jipe e tirou uma pequena lanterna da caixa de ferramentas no banco de trás. Depois, saiu com seus homens para longe do acampamento, através do pequeno campo que dava na localização dos mísseis.
Cinquenta e Seis
Quarta-feira, 2:45, Zona de Armistício
O alerta de Koh chegou a Lee quando ele acabava de colocar as latas de tabun num nicho do túnel. Ele saiu do túnel para atender à ligação e depois desceu de novo para a rota do contrabando.
Então o Gregory Donald ia se encontrar com o general Hong-koo em poucas horas. Isso não podia acontecer. Mostraria simpatia pelo norte e poderia até convencer os líderes mundiais da inocência deles. As fases dois e três do plano precisavam ser executadas quando a tensão estivesse no máximo.
Donald teria que morrer. E logo.
Lee falou com o praça Yoo, que permanecia com ele. O outro soldado retornara à base com o caminhão. Se não estivesse de volta na hora marcada, o general Norbom poderia ordenar uma busca.
Passariam o gás para a Coreia do Norte, conforme planejado, mas, uma vez lá, Yoo teria que colocar os tambores sozinho no lugar, enquanto Lee cuidava de Donald. Yoo compreendeu a situação e aceitou a tarefa com grande satisfação, prometendo que tudo correria de acordo com o esquema. Lee não esperava outra coisa de um membro da sua equipe. Todos tinham sido treinados para completar a missão se alguma coisa acontecesse a um companheiro. Agachando-se no escuro, ambos começaram a se dedicar a uma tarefa que haviam testado infindáveis vezes no papel.
Os túneis foram escavados pela Coreia do Norte e formavam uma rede complexa que se estendia por mais de uma milha do norte ao sul e por quatrocentos metros de leste a oeste. Embora a Inteligência Militar soubesse deles e fizesse tentativas regulares de fechá-los, os norte-coreanos agiam como as formigas: quando se fechava uma entrada, abriam outra. Se enchiam um túnel de água ou gás, abriam outro também. Às vezes, todo o lugar era bombardeado, mas, embora destruíssem várias partes do túnel, os norte-coreanos simplesmente construíam novas seções, mais profundas.
Lee e seus homens abriram ostensivamente esse túnel particular de intercomunicação para espionar o norte. Enquanto o buraco vertical era de aproximadamente l,2m de diâmetro, o túnel propriamente dito era ainda mais estreito, com menos de noventa centímetros, igual aos da Coreia do Norte. Aquela ramificação se ligava com o túnel principal do norte, que distava apenas dez metros da fronteira.
Para descer as quatro latas de tabun, um homem se dirigira para o fundo da passagem, enquanto o outro as descia com uma corda e Lee montava guarda. Os tambores foram escondidos num nicho que escavaram na ponta do corredor, longe do túnel. Senão, não haveria espaço para eles e os homens. Agora era preciso que Yoo caminhasse de costas pelo túnel, abrindo caminho para um tambor de cada vez, enquando Lee ia rolando. Os tambores cabiam certinho de lado e, onde o túnel não tivesse largura suficiente, era preciso mudar os tambores de posição e empurrá-los ao comprido, com muita calma.
Lee calculara que cada viagem de ida e volta pelo labirinto duraria 75 minutos. Isso não deixava muito tempo para tratar do Donald, mas um jeito teria que haver. Não podia se dar ao luxo de parar agora. Tinha medo de que fosse pego e não pudesse completar a sua parte na missão.
O major Lee tirou uma lanterninha do bolso do uniforme, ligou e a prendeu à tira que tinha no ombro. Yoo recuou alguns passos no túnel enquanto Lee, com muito cuidado, retirava o primeiro tambor do nicho e o carregou de pé até a entrada. Colocando-se de gatinhas, começou a rolá-lo atrás de Yoo, que ia vendo se o túnel não possuía nenhum obstáculo que não tivessem visto nas vezes em que exploraram o local...
Cinquenta e Sete
Quarta-feira, 2:55, Seul
O carro da KCIA freou forte na entrada de feridos do Hospital da Universidade Nacional, em Yulgongno. Kim deixou o carro ligado e correu através das portas automáticas, pedindo ajuda para um homem ferido. Dois médicos saíram à chuva, um em direção a Hwan e o outro para a pessoa no banco da frente.
– Esse aí está morto – gritou Kim para o segundo médico. – Ajuda aquele ali.
Mesmo assim, o médico abriu a porta e tentou sentir o pulso, depois entrou com parte do corpo no carro para aplicar respiração boca-a-boca. No banco de trás, o médico, rápido, mas com cuidado, tirou o cinto e as meias dos ferimentos de Hwan – pálido e semiconsciente ao chegar, mas totalmente acordado quando dois paramédicos vieram correndo com uma maca e o carregaram.
Hwan esticou a mão, agarrando o ar.
– Kim!
– Estou aqui – disse ela, correndo e segurando a mão dele, enquanto o carregavam para dentro do hospital.
– Cuide... do outro...
– Claro – falou. – Vou cuidar dele. – Soltando a mão de Hwan, ficou olhando o levarem para dentro, depois voltou para o carro, onde o médico desistira de reanimar o criminoso e examinava os tiros que ele levara. Apontou para a porta do hospital.
– O que aconteceu, senhora?
– Foi horrível – disse Kim. – O sr. Hwan e eu estávamos indo para o nosso sítio em Yanguu, quando paramos para ajudar esse homem. Parecia ter tido um problema com a lambreta. Mas acabou esfaqueando o sr. Hwan, que atirou nele.
– E você não sabe por quê?
Kim sacudiu a cabeça.
– A senhora poderia entrar? Vai ter que dar algumas informações sobre o homem ferido e a polícia também vai querer falar com você.
– Claro – disse ela, enquanto uma maca era levada para fora.
– Deixe-me apenas estacionar o carro.
Dois funcionários retiraram o corpo do carro, colocaram-no na maca e cobriram com um lençol. Depois que saíram, Kim entrou no lado do motorista e dirigiu-se para o estacionamento. Quando estacionou o carro numa vaga, pegou o telefone e apertou o botão vermelho. A telefonista da KCIA atendeu.
– Estou telefonando do carro de Kim Hwan. Ele foi ferido por um assassino e está agora no Hospital da Universidade Nacional. O homem que o feriu está morto e no mesmo hospital. O sr. Hwan acredita que este homem esteja envolvido com os terroristas que atacaram o palácio e quer que verifiquem as impressões digitais para saber quem ele é.
Desligou e ignorou o fone, quando tocou. Olhando em volta do estacionamento, encontrou um carro que conhecia: um Toyota Tercei. Tirando seu rádio do banco de trás, colocou-o no chão, ligou e inclinou de tal maneira que a luz do dial iluminasse o painel do carro. Tendo achado os fios de ignição onde seus instrutores certa feita disseram que estariam, juntou-os, ligou o carro e partiu rumo ao norte.
Cinquenta e Oito
Terça-feira, 13:10, Centro de Operações
Quando Hood chegou à sala de Matt Stoll, o assessor de apoio operacional estava terminando o seu trabalho. A cara redonda exibia um sorriso de orelha a orelha e os olhos pareciam triunfantes.
– Paul, isso foi coisa do gênio mais magnífico e mais maravilhoso que existe – falou. – Eu preparei todo tipo de garantias, checagens e diagnósticos para ter certeza de que um software vindo de fora não estivesse contaminado e, mesmo assim, conseguiram passar.
– Quem e como?
– Os sul-coreanos. Ou pelo menos alguém com acesso ao software deles. Está aqui, no disquete CS-17.
Hood inclinou-se para ler a tela e viu uma série de letras e números piscarem.
– O que é isso?
– Toda a porcaria que foi despejada no sistema veio desse único disquete. Estou apagando tudo. Peço ao computador para ler o programa original e apagar integralmente.
– Mas onde é que enfiaram?
– Esconderam numa atualização de rotina do pessoal. É o tipo de arquivo que pode ser grande ou pequeno e ninguém pensa em checar. Não é como um arquivo sobre, digamos, os agentes alocados nas ilhas Mascarenas. Se um deles de repente ficasse tão grande quanto o déficit público, a gente perceberia.
– Então o vírus estava escondido nesse arquivo...
– Exatamente. E estava programado para inserir um programa de satélite no nosso sistema naquela hora em que aconteceu. Um programa que varria a biblioteca, entulhava-a de fotografias e criava imagens falsas, do tipo que os sabotadores queriam que nós víssemos.
– Como é que isso chegou ao DVN?
– Pela linha telefônica daqui. Ela é segura para o que vem de fora... mas não quanto ao material de dentro. Vamos ter que dar um jeito nisso.
– Mas eu ainda não entendi o que fez o vírus disparar.
Stoll abriu um sorriso ainda maior.
– Isso é que foi o toque de gênio. Olhe só para isso. – Abriu um laptop e inseriu o disquete depois de tirá-lo com cuidado quase reverenciai do drive principal. A folha de rosto apareceu e Stoll apontou para ela.
Hood leu tudo o que estava nela.
– Coreia do Sul, disquete número 17, feito por fulano, corrigido por beltrana, aprovado por um general e enviado por um portador militar há cinco semanas. E o que isso quer dizer?
– Nada. Leia a última linha.
Hood olhou. Teve que se aproximar um pouco para ler a letra miúda.
– Copyright 1988 by Angiras Software. Que é que tem?
– Todas as agências do governo fazem seus próprios programas. Não é como o WordPerfect que você tem que registrar. Porém, acontece dos nossos computadores às vezes receberem software com avisos de Copyright e eu instruí o sistema para ignorar isso.
Hood estava começando a entender.
– E foi isso que disparou o vírus?
– Não. Isso foi o que disparou a pane que permitiu que o vírus entrasse sem ser notado. O ano... 1988. É uma data, mas também é um relógio. Ou melhor, um pequeno programa escondido nesse ano pôs as garras no nosso relógio e provocou a pane. Por exatamente 19 segundos e 88 centésimos.
Hood assentiu.
– Bom trabalho, Matty.
– Uma ova, Paul. Nós vemos esses avisos nos programas e eles nem ficam gravados na memória. Na minha, com certeza, não, e alguém na Coreia do Sul tirou vantagem disso.
– Mas quem?
– Talvez a data nos ajude nesse ponto. Eu chequei os arquivos. Um dos principais acontecimentos do ano de 1988 ocorreu quando estudantes radicais a favor da reunificação entraram em choque com a polícia. O governo abafou à força o movimento. E alguém que seja a favor ou contra a unificação pode ter pego esse ano como um símbolo. Sabe como é, do mesmo jeito que o Charada sempre deixava uma pista para o Batman, de alguma espécie de vaidade distorcida.
Hood sorriu.
– Se eu fosse você, deixava essa parte do Batman fora do relatório oficial. Mas talvez esse seja o ingrediente que faltava para convencermos o presidente de que os sul-coreanos estão por trás disso.
– Exatamente.
– Nessa você realmente se superou. Mande aquela folha de rosto para o meu computador e vamos ver o que o Lawrence vai dizer agora.
– Quem é que me garante que não é um espião da Coreia do Norte infiltrado no sul?
– Não há como saber, sr. presidente – disse Hood, na linha segura, enquanto o presidente e Steve Burkow examinavam o relatório. – Mas por que os líderes de Pyongyang iriam mexer nos nossos satélites para parecer que estão se preparando para a guerra. Eles podem mover as tropas, então por que se dar a todo esse trabalho?
– Para parecer que nós é que somos os agressores – opinou Burkow.
– Não, Steve. O Paul está absolutamente certo. Isso não tem cara de ser trabalho do governo. A Coreia do Norte não chega a esse nível de sutileza. É coisa de uma facção e pode ser tanto da Coreia do Norte quanto da Coreia do Sul.
– Obrigado – agradeceu Hood, visivelmente aliviado.
O correio eletrônico emitiu um bip. Bugs jamais interromperia uma conversa de Hood com o presidente, por isso mandou a mensagem pelo monitor. Como foi mandada direto para a tela da TV (e não Para o computador), o presidente não podia ler.
Hood sentiu uma aperto no estômago quando leu a mensagem:
De Yung-Hoon, diretor da KCIA: Kim Hwan esfaqueado por assassino. Está sendo operado. Espiã da Coreia do Norte fugiu.
Assassino morto. Checando identidade.
Hood afundou o rosto nas mãos. Estava se saindo um ótimo chefe da Força-tarefa coreana. Sabendo tudo o que acontecera desde o atentado, ciente de que uma pessoa ou grupo queria desesperadamente a guerra, e não tendo a menor ideia de quem fossem os autores. De repente, entendia onde é que o Orly tinha arranjado o seu jeito. Não é que fosse mal-educado com o paciente. Acontece que se sentia derrotado por um inimigo que não conseguia agarrar.
Passou uma mensagem para Bugs continuar acompanhando a situação, transmitir a informação para Herbert e McCaskey e agradecer ao diretor Yung-Hoon. Também pediu ao diretor da KCIA para informá-lo quanto à evolução das investigações sobre o assassino e o estado de saúde de Hwan.
– ...mas, como eu ia dizendo, Paul – continuava o presidente – , nós já passamos desse ponto. Agora não interessa quem começou o confronto. O problema é que nós estamos envolvidos.
Hood retomou a conversa.
– Não há a menor dúvida quanto a isso – disse Burkow. – Para ser franco, eu adotaria logo o cenário do primeiro ataque do Estudo de Estado-Maior. Paul, você acha que daria certo...
– Claro que sim, caramba! O plano do secretário de Defesa seria considerado uma maluquice! Pelo que estamos informados, a Coreia do Norte espera uma nova operação Tempestade no Deserto, com um período de cessar-fogo. Quinhentos mil homens invadindo a Coreia do Norte, ataques aéreos contra centros de comunicação, mísseis sendo jogados em todas as pistas de pouso e bases militares do país... Claro que ia dar certo, Steve. No máximo perderíamos uns três mil homens. Por que entrar em acordo se podemos perder soldados e dominar um país que vai ser um ralo de dinheiro sul-coreano pelos próximos quarenta ou sessenta anos?
– Já chega – disse o presidente. – À luz dessa nova situação, vou pedir à embaixadora para estudar a viabilidade de uma solução diplomática.
– Estudar? – O telefone comum de Hood tocou. Ele olhou para o visor. Era do hospital. – Sr. presidente, preciso atender outra chamada. Pode me desculpar?
– Perfeitamente, Paul. Mas quero a cabeça da pessoa que deixou esse vírus passar.
– Ótimo, sr. presidente. Se quiser a dele, vai ter que levar a minha também.
Filho da puta, pensou Hood enquanto desligava o telefone seguro. Tinha sempre que aprontar um drama. Você está dentro, você está fora, vamos para a guerra, eu assinei um acordo de paz. Gostaria que Lawrence tivesse um hobby. Se uma pessoa começa a se dedicar à profissão 24 horas por dia, seu senso de proporção fica completamente defasado.
Hood pegou o telefone comum.
– Sharon... como é que ele está?
– Muito melhor – falou. – Foi como uma represa sendo aberta de uma vez só. Ele respirou fundo e parou de gemer. O médico falou que os pulmões tiveram uma melhora de vinte por cento. Vai ficar tudo bem, Paul.
A voz dela estava leve e tranquila pela primeira vez naquele dia. Já podia ouvir a garotinha que existia nela e estava feliz por esse lado ter voltado.
Darrell McCaskey e Bob Herbert estavam parados na porta. Hood fez sinal para que entrassem.
– Sharon, eu amo vocês dois.
– Eu sei. Vai ter que desligar.
– Vou ter. Desculpe.
– Não precisa se desculpar. Você fez tudo certo. Já lhe agradeci por vir aqui?
– Acho que sim.
– Se não agradeci, muito obrigada – disse Sharon. – Eu amo você.
– Um beijo para o Alex.
Sharon desligou e Hood colocou o telefone calmamente no gancho.
– Meu filho está bem e a minha mulher não está querendo mais me engolir – falou, olhando de um homem para o outro. – Se tiverem uma notícia ruim, a hora é essa.
McCaskey deu um passo à frente.
– Sabe aquela oficial de reconhecimento que foi morta, a Judy Margolin? Parece que uma das últimas fotos que ela tirou foi de um dos MiGs que atacavam.
– E alguém passou essas fotos para a imprensa?
– Pior que isso – disse McCaskey. – O pessoal do Pentágono conseguiu ler o número do avião. Deram uma busca em todas as fotos de reconhecimento mais recentes para descobrir onde ficava a base.
– Meu Deus, não!
– Pois é – disse Herbert. – O presidente acabou de autorizar a Força Aérea para atacar.
Cinquenta e Nove
Quarta-feira, 3:30, Sariwon
Sariwon, na Coreia do Norte, fica 240 quilômetros a oeste do mar do Japão, a oitenta quilômetros do mar Amarelo e oitenta ao sul de Pyongyang.
A base aérea local é a primeira linha de defesa contra um ataque aéreo ou por míssil da Coreia do Sul. É uma das bases mais antigas do país, construída em 1952 durante a guerra e sendo reequipada somente quando novas tecnologias da China e a União Soviética foram liberadas. Isso não ocorria com a frequência que Pyongyang desejava: os aliados da Coreia do Norte tinham sempre medo de que uma eventual unificação com o sul desse ao Ocidente acesso a equipamentos e tecnologia de última geração. Por isso, o norte era mantido sempre vários passos atrás de Moscou e Beijing.
Sariwon tinha um radar com alcance de oitenta quilômetros, capaz de rastrear objetos de pelo menos sete metros de diâmetro. Isso lhes dava a possibilidade de rastrear praticamente qualquer avião dirigido contra eles. Nas simulações, um ataque do oeste não dava tempo à base de reunir todos os caças, embora até um ataque de caças em Mach 1 desse tempo para ativar a artilharia antiaérea.
O perfil de uma aeronave captada por radar era maior de lado do que de frente. Desse modo, bombardeiros como os antigos B-52 tinham uma STA bem alto, de até mil metros quadrados, que os tornava fáceis de serem localizados e alvejados. Até os F-4 Phantom II e os F-15 Eagle eram fáceis de se ver, com 100 de STA para o Phantom e 25 para o Eagle. Do lado oposto da escala estava o bombardeiro B-2 de tecnologia avançada, com uma STA de um milionésimo de metro quadrado – praticamente o mesmo que um beija-flor.
O Lockheed F-117A Nighthawk tinha uma STA de 0,01. Seu perfil era pequeno devido ao seu formato exclusivo de “diamante lapidado”, com milhares de superfícies planas em ângulos colocados de tal maneira que não compartilhassem do mesmo ângulo de reflexo de sinal. A STA também era reduzida devido ao material utilizado na construção do avião. Apenas 10% do peso da estrutura era de metal. O resto era fibra de carbono reforçada, que absorvia e dissipava a energia do radar tanto quanto a leitura infra-vermelha do avião, e de Fibaloy, revestimento com uma substância plástica cheia de bolhas e fibras de vidro que diminuíam a STA.
O avião preto tinha 19 metros de comprimento, cinco de altura e 13 de envergadura. Operando desde outubro de 1983, o F-117A fora designado para 4.450° Grupo Tático da Base Aérea de Nellis, em Nevada. A unidade da Equipe Um, Furtim Vigilans (Vigilantes Secretos) ficava permanentemente sediada na “Pista do Melão”, na seção noroeste da área de testes de Nellis. Entretanto, desde a Tempestade no Deserto, os aviões da unidade eram constantemente pedidos. Com as asas dobradas, o F-117A podia ser colocado no corpo de um avião de transporte C-5A, que era o único jeito de deslocá-lo por distâncias longas sem ser localizado, uma vez que o encaixe de reabastecimento seria detectado por radar se usado em voo.
Voando a uma velocidade máxima de Mach 1, o Nighthawk cobria oitenta quilômetros em quatro minutos. Impulsionado por duas turbinas GE F404-HB de 12.500 libras, sem pós-queimador, tinha um raio de combate de 640km.
O F-117A estava a bordo do porta-aviões Halsey, que saiu das Filipinas quando a situação ainda era de Defcon 4 e se encontrava no meio do mar da China Oriental. Decolando em direção ao norte, luzes apagadas, o F-117A voou em direção à costa oeste da Coreia do Sul, sempre subindo na proa noroeste em direção ao mar Amarelo. Voando a apenas dez mil pés de altitude, acelerou de Mach 0,8 para Mach 1 e entrou no espaço aéreo norte-coreano, suas asas inclinadas para trás e estabilizador em forma de rabo de andorinha rasgando o ar que oferecia uma resistência quase imperceptível.
O radar captou um ponto imediatamente. O técnico chamou um supervisor, que confirmou que o ponto parecia ser um avião. Falou com o centro de comando através do rádio. Tudo isso demorou 75 segundos. O comandante da base foi acordado e deu autorização para soar o alarme. Dois minutos e cinco segundos tinham-se passado exatamente desde a primeira vez que o ponto fora captado.
A base aérea era cercada por armas nos quatro lados, embora só a artilharia antiaérea a leste e oeste tivessem condições para pegar o intruso indo e vindo. Vinte e oito homens foram destacados, sete para cada arma, duas em cada lado. Demorou um minuto e vinte segundos até chegarem a seus postos. Um homem em cada arma colocou headphones. Mais cinco segundos haviam se passado.
– Artilharia sudoeste para torre. Qual a posição do intruso?
– Está a 227 graus, descendo rapidamente, aproximando-se a uma velocidade de...
Houve uma explosão à distância, depois que o míssil por controle remoto anti-radiação Tacit Rainbow ABM-136A do Nighthawk procurou, localizou e destruiu o disco do radar.
– O que foi isso? – perguntou o atirador.
– Nós o perdemos – respondeu a torre.
– O avião?
– O radar!
Os homens na mesa de controle teclaram as últimas coordenadas conhecidas e imensas engrenagens rolaram no chão mansamente enquanto enormes canos pretos eram colocados em posição. Ainda estavam se movendo quando um estrondo supersônico anunciou que o avião com formato de flecha chegara.
Guiado pelo radar a laser apontado para a frente e um monitor de baixa radiação, o F-117A achou com a maior facilidade a aeronave que atacara o Mirage. Estava postada na pista, com dois outros MiGs de cada lado.
O piloto esticou a mão esquerda, logo abaixo do joelho, e apertou um botão vermelho, num quadrado amarelo com listras pretas diagonais. Imediatamente, o ar do lado de fora foi cortado pelo zunido alto do míssil ABM-65, com guiagem óptica; o foguete esguio cortando os 1.500m entre o avião e o alvo em apenas dois segundos.
O MiG foi jogado para o alto e partido aos pedaços numa imensa bola de fogo que fez a noite parecer dia e depois ficar laranja com as chamas. Os aviões de cada lado viraram de cabeça para baixo e os destroços da explosão ficaram espalhados em todas as direções, que também quebrou as janelas da torre, os hangares e mais da metade dos 22 aviões no campo. Havia pedaços de pano e de plástico pegando fogo por toda parte, dando origem a pequenos incêndios nos edifícios e na floresta ao redor das pistas.
Um artilheiro morreu na explosão, as costas abertas por um estilhaço de metal de 25cm.
O comandante chegara a agrupar quatro jatos, mas o F-117A já dera a volta em direção ao mar e corria para o Halsey antes mesmo de eles terem decolado.
Sessenta
Quarta-feira, 3: 45, Quartel General da KCIA
O diretor Yung-Hoon estava exausto. Mais uma xícara de café o manteria acordado, se é que o café ia chegar ao escritório dele. O mesmo quanto ao laudo do laboratório. Tinham tirado as impressões digitais do merda há 15 minutos e imediatamente levado para serem comparadas no computador. Aquela porcaria devia funcionar na velocidade da luz ou coisa parecida.
Yung-Hoon esfregou os olhos fundos e cadavéricos com seus dedos magros. Empurrou os longos cabelos grisalhos que lhe caíam na testa e olhou em torno da sala. Ali estava ele, chefe de uma das agências de espionagem mais preparadas, com quatro andares e três subsolos lotados com os melhores equipamentos de análise e detecção e nada parecia funcionar.
Tinham impressões digitais de todos os tipos no banco de dados. Dos arquivos da polícia, dos registros das escolas e até de vidros e telefones em que os norte-coreanos houvessem tocado. Seus agentes chegaram ao ponto de tirar as maçanetas das bases militares na Coreia do Norte.
Por que estava demorando tanto para as impressões se encaixarem?
O telefone tocou. Yung-Hoon apertou o botão de viva voz.
– Sim?
– É o Ri, senhor. Eu gostaria de mandar as impressões digitais ao Centro de Operações, em Washington.
O diretor soltou um longo respiro pelo nariz.
– Não achou nada?
– Até agora, não. Mas pode ser que não sejam norte-coreanos ou criminosos conhecidos. Podem ser de um outro país.
O segundo telefone tocou. Era a linha de seu secretário, Ryu.
– Muito bem – disse o diretor. – Mande para lá. – Desligou o primeiro telefone e apertou a tecla do segundo. – Sim?
– Senhor, o QG do general Sam acabou de telefonar informando que um caça americano atacou a Base Aérea de Sariwon.
– Um caça?
– Sim, senhor. Acreditamos que um Nighthawk acertou o MiG que atacara o Mirage.
Até que enfim uma coisa para se sorrir, pensou Yung-Hoon.
– Ótimo. Quais são as últimas notícias sobre o Kim Hwan?
– Não há últimas notícias, senhor. Ele ainda está sendo operado.
– Entendo. O café já está pronto?
– Está sendo feito, senhor.
– Por que que as coisas andam tão lentas por aqui, Ryu?
– Talvez porque estejamos com falta de pessoal, senhor?
– Que bobagem! Um homem sozinho atacou Sariwon com êxito. Nós estamos é sendo complacentes. Tudo isso só aconteceu porque estamos inchados e com falta de iniciativa. Talvez seja preciso fazer umas mudanças...
– Vou pegar o café do jeito que estiver, senhor.
– Está pegando o jeito, Ryu.
O diretor desligou o telefone. Queria tomar café, mas tinha razão no que dissera a Ryu. A organização tinha perdido o pique e o melhor agente estava sabe lá Deus em que condições. Yung-Hoon ficara zangado quando soube que Hwan levara a espiã e pedira sua ajuda. Não era assim que se fazia. Mas talvez fosse por isso que precisava ser feito.
Mostre confiança e compaixão onde geralmente mostra dúvida e raiva. Sacuda as pessoas, desequilibre-as.
Fora educado na velha escola e Hwan era da nova geração. Se o vice-diretor sobrevivesse, talvez fosse hora de mudar mesmo as coisas.
Ou talvez ele só estivesse morto de cansaço. Veria como as coisas ficariam depois de tomar café. Enquanto isso, elevou sua enorme mão direita e fez uma saudação aos americanos por terem feito a parte deles em desequilibrar a Coreia do Norte.
Sessenta e Um
Terça-feira, 14:00, Centro de Operações
O laboratório no Centro era minúsculo – apenas 84 m2, mas a dra. Cindy Merritt e seu assistente Ralph não precisavam mais do que aquilo. Os dados e os dossiês eram todos computadorizados e vários equipamentos ficavam em armários e gavetas ligados ao computador para observação e controle.
As impressões digitais do computador da KCIA chegaram ao de Merritt através de um modem de segurança. No momento em que chegavam, as curvas e estrias já iam sendo rastreadas à procura de um padrão semelhante nos arquivos fornecidos pela CIA, pelo Mossad, o MI5 e outros serviços de espionagem, além de dossiês da Interpol, da Scotland Yard e outras forças policiais e grupos de espionagem militar.
Ao contrário do equipamento da KCIA, que punha toda a impressão digital sobre as que tinham no arquivo (numa velocidade de vinte impressões por segundo), o programa do Centro, que Matt Stoll criara com Cindy, dividia cada impressão em 24 partes iguais e literalmente jogava-as no espaço. Se uma parte do modelo aparecesse em outra impressão, as impressões inteiras eram comparadas. Essa técnica permitia a verificação de 480 impressões por segundo, em cada máquina.
Bob Herbert e Darrell McCaskey chegaram ao mesmo tempo que a impressão e perguntaram a Cindy se ela podia colocar vários computadores para fazer aquele trabalho. Sem se fazer de rogada, a quí mica destinou-lhes três e mandou que não saíssem dali, porque não ia demorar muito.
E não se enganou. O computador achou a impressão em três minutos e seis segundos. Ralph puxou o arquivo.
– Praça Jang Tae-un – leu. – Soldado durante quatro anos, designado para a seção de explosivos do major Kim Lee...
– Aí! – disse Herbert, com triunfo na voz.
– ...especialista em combate corpo a corpo.
– Contanto que o outro cara não esteja armado – murmurou Herbert.
McCaskey pediu a Ralph uma cópia das informações, depois disse para a química:
– Você faz milagres, Cindy.
– Diz isso ao Paul – falou a bela morena. – Poderíamos usar um matemático em meio expediente para ajudar a escrever o programa para aperfeiçoar os algoritmos que usamos para modelar bio-moleculares.
– Cuidarei de dizer a ele. – McCaskey piscou enquanto tomava o papel de Ralph. – Exatamente nessas palavras.
– Faça-o – disse ela. – Seu filho explicará a ele.
Hood estava mais preocupado com o major Lee do que com o pedido de Cindy. Com Liz Gordon e Bob Herbert a seu lado, ambos olhando a tela do computador, leu o dossiê do major sul-coreano que o general Sam mandara pelo correio eletrônico, de Seul.
O diretor estava com dificuldade de se concentrar. Mais do que em qualquer momento desde o início da crise, sentia uma imensa pressão para descobrir quem estava por trás do atentado. A tensão crescente não só ganhara vida própria, como também achava que sua atitude diplomática fizera o presidente deixar o Centro de lado. Steve Burkow telefonara e o informara sobre o ataque à Base Aérea da Coreia do Norte dois minutos antes do ocorrido. O chefe da Força-tarefa coreana nem sequer participara da estratégia de ataque. O presidente queria brigar e estava fazendo tudo ao seu alcance para provocar uma boa briga. O que não teria nada demais se houvesse alguma garantia.
Se estivesse errado sobre a inocência da Coreia do Norte, ele teria que se preocupar mais com o assunto do que perder a confiança do presidente. Ele acabaria se perguntando se estava na política há tempo suficiente para ser o estrategista que um dia fingira ser.
Obrigou-se a se concentrar no que aparecia no monitor.
Lee era veterano de guerra há vinte anos, com um desgosto compreensível pela Coreia do Norte. Seu pai, o general Kwon Lee, fora general de campo e morrera em Inchon, durante a guerra. A mãe do major, Mei, foi capturada e enforcada por espionar os trens de soldados que partiam e chegavam à estação de Pyongyang. Lee foi criado num orfanato de Seul e entrou para o Exército aos 18 anos, onde servira com o agora coronel Lee Sun – que na escola fora um adepto da separação, distribuindo folhetos e tendo sido preso uma vez. Embora Lee não pertencesse a qualquer movimento clandestino, como a Fraternidade da Divisão e os Filhos dos Mortos (os filhos dos soldados que morreram na guerra), Lee era responsável por um grupo de contra-inteligência de elite. Solteiro, fazia um bocado de operações de reconhecimento na Coreia do Norte para ajudar a calibrar os satélites espiões norte-americanos, medindo objetos na terra que servissem de referência ao DVN.
– O que você acha, Liz? – perguntou Hood.
– Nada começa ou termina no meu departamento, mas acho que isso é o máximo que você vai conseguir...
Bugs mandou um bip.
– Que é?
– Ligação urgente na linha segura. É o Yung-Hoon, diretor da KCLA.
– Obrigado. – Hood apertou a tecla iluminada. – Paul Hood falando.
– Diretor Hood – disse Yung-Hoon. – Acabei de receber uma mensagem das mais interessantes de uma espiã norte-coreana com quem o Kim Hwan esteve esta noite. Disse que ele tinha pedido para ela entrar em contato com o norte e descobrir se houve um roubo de botas e explosivos em algum lugar do lado deles.
Herbert estalou os dedos e chamou a atenção de Hood.
– Foi sobre essa comunicação que a Rachel me falou quando eu estava na sua sala – cochichou Herbert.
Hood assentiu. Tapou a orelha direita para não ouvir o ruído que Liz fazia ao digitar o teclado.
– O que foi que a Coreia do Norte disse, sr. Yung-Hoon?
– Que várias botas, explosivos e armas de fogo foram roubadas de um caminhão a caminho do depósito de Koksan, quatro semanas atrás.
– Eles mandaram essa informação para ela via rádio e ela passou a vocês?
– Exatamente. Bastante estranho, porque depois que ela levou o Hwan ao Hospital da Universidade Nacional, roubou um carro e desapareceu. Estamos à sua procura, nesse momento.
– Mais alguma coisa, senhor?
– Não. O Hwan continua na mesa de cirurgia.
– Obrigado. Vou me manter em contato. É possível que já tenhamos alguma coisa.
Operações de reconhecimento na Coreia do Norte, pensou Hood. Desligou o telefone.
– Bob, verifique com o general Sam e descubra se o nosso amigo Lee fez alguma operação de reconhecimento na Coreia do Norte há quatro semanas.
– Claro – disse Herbert. Rolou a cadeira para fora com um entusiasmo que Hood nunca tinha visto antes.
Liz Gordon observava o computador.
– Sabe de uma coisa, Paul? Acho que, se for um complô, o coronel Sun também deve estar envolvido.
– Porquê?
– Acabei de pedir o dossiê de Sun. Diz aqui que ele não delega autoridade.
– Então o Lee está agindo na rédea curta?
– Ou talvez o contrário. Não parece que o Sun tenha muito a ver com a operação do Lee.
– O que significa que ele pode não estar envolvido...
– Ou que a confiança que ele deposita em Lee é tão grande que não precisa supervisioná-lo.
– Para mim, parece meio forçado...
– Mas não é. É o que normalmente acontece quando duas pessoas falam a mesma língua. É uma relação simbiótica clássica de um oficial prático como o Sun.
– Tudo bem. Vou pedir ao Bob que também verifique por onde o Sun andou. – Hood olhou para o relógio regressivo e depois para a salada parcialmente comida, perto do cotovelo dele. Pegou um pedaço de cenoura ainda quente e começou a mastigar.
– Sabe, nós demoramos quase dez horas para ter a nossa primeira pista verdadeira e ainda tivemos que contar com a ajuda de uma espiã norte-coreana. O que isso lhe diz sobre a nossa operação?
– Que ainda estamos aprendendo.
– Isso é uma coisa que eu não consigo engolir. Deixamos pistas escapar pelo caminho. Nós é que devíamos ter perguntado à Coreia do Norte se eles tiveram um roubo. Devia haver um canal de comunicação para esse tipo de coisa. Também devíamos ter um dossiê sobre sul-coreanos adeptos da separação.
– Isso é desculpa de segunda-feira. A partir de agora, vamos ter um. Nós até que estamos indo bem, se considerar que batemos de frente com o presidente e com alguns dos seus assessores mais próximos.
– Talvez. – Ele sorriu. – Você foi a primeira que disse que o presidente norte-coreano não estava por trás disso. Como é que se sente agora que o resto está de acordo?
– Assustada.
– Ótimo. Só queria ter certeza de que não era o único. – Ele salvou os arquivos da Coreia do Sul. – Agora eu vou ter de apressar o Rodgers e ver se consigo para o Centro uma sobra do êxito militar. Quem sabe? Talvez o Mike tenha algumas ideias capazes de surpreender as novas águias da Pennsylvania Avenue.
Sessenta e Dois
Terça-feira, 8:40, a leste da ilha de Midway
Pouco mais de uma hora antes, no céu do Havaí, o ruidoso C-141A fora reabastecido por um avião-tanque KC-135. Estava pronto agora para mais 6.400 km, mais do que o suficiente para se chegar até Osaka. E com o forte vento de cauda que pegavam no Pacífico sul, o capitão Harryhausen informou ao tenente-coronel Squires que deveriam chegar ao Japão cerca de uma hora antes do esperado, aproximadamente às cinco da manhã. Squires foi confirmar com o navegador. O sol não iria se levantar na Coreia do Norte antes das seis e pouco. A essa hora, com alguma sorte, já teriam descido na cordilheira do Diamante.
Mike Rodgers estava sentado com os braços cruzados e os olhos fechados, pensando e sonhando com uma série de coisas. Fragmentos do passado, de amigos que não estavam mais com ele, misturavam-se com imagens de como ele achava que seria a cordilheira do Diamante. Pensava no Centro de Operações e no que estaria acontecendo lá e como gostaria de estar brandindo o chicote... mas, ao mesmo tempo, feliz por estar no front.
Propositalmente, tudo entrava e saía da cabeça como se fossem nuvens. Aprendera que a maneira mais rápida de se lembrar de planos complicados era lê-los duas ou três vezes, deixá-los flutuar na memória e em seguida repassá-los umas duas horas depois. Essa técnica, que tinha aprendido com um amigo ator, fazia com que a lição ficasse na cabeça por alguns dias, findos os quais evaporava. Rodgers gostava dela porque não tomava muito tempo e não lotava os neurônios para sempre. Detestava o fato de que ainda conseguia se lembrar de certas inutilidades que um dia estudara para as provas do ginásio, como a que Francês Folsom Cleveland, viúva do presidente Grover Cleveland, fora a primeira primeira-dama a se casar pela segunda vez, e que o navio gêmeo do Mayflower, que nunca chegara a navegar, se chamava Speedwell.
Acima de tudo, deixar as simulações que ele e Squires estudaram vagarem na memória dava tempo para Rodgers relaxar em voos longos e se compor para a missão...
– General!
...e atender a eventuais telefonemas de Paul Hood. Rodgers se sentou e tirou os fones de ouvido.
– Sim, praça Puckett.
– É o senhor Hood, senhor.
– Obrigado, praça.
Puckett pôs o rádio no banco ao lado de Rodgers e voltou ao seu lugar. Rodgers colocou o fone enquanto o tenente-coronel Squires se remexia no meio de um cochilo.
– Rodgers falando.
– Novidades, Mike. A Coreia do Norte atirou num dos nossos aviões de espionagem e matou uma oficial de reconhecimento. O presidente contra-atacou destruindo o caça inimigo no chão.
– Bom trabalho, presidente!
– Mike, dessa vez nós não estávamos de acordo.
Rodgers trincou os dentes fortemente.
– Não?
– Acreditamos que alguém armou contra a Coreia do Norte – disse Hood – , que um militar sul-coreano esteve por trás do atentado dessa manhã.
– E ele também atirou no nosso oficial?
– Não, Mike, mas nós é que estávamos no espaço norte-coreano.
– Nesse caso, o procedimento correto seria obrigar o avião a aterrissar sem atirar. E não foi isso o que aqueles porcos fizeram. Ou fizeram?
– Não, não fizeram e vamos deixar para discutir isso numa outra hora. Estamos em Defcon 3 e achamos que a coisa ainda vai esquentar. Se isso acontecer, podemos cuidar de todos os Nodongs fixos com os caças. Mas vocês terão de ser responsáveis pelas unidades móveis.
– Do jeito que eu decidir?
– Quem está no comando, você ou o tenente-coronel Squires?
– Ele. Mas nós falamos a mesma língua. Então, do jeito que nós decidirmos?
– Talvez não dê tempo de pedir ao Pentágono para autorizar as ações de vocês. O presidente também não sabe nada a respeito. É isso aí, Mike. Se parecer que os mísseis vão ser disparados, você os destrói. Para ser franco, Mike, de certa maneira nós levamos um ovo na cara. Procuramos patrocinar a paz, mas o ataque contra a Base Aérea de Sariwon vai dar pano para mangas. Eu preciso de alguma coisa temperada com pólvora.
– Já entendi, Paul.
Entendera mesmo. Mais uma vez, um político com problemas – nesse caso, o presidente – queria que um ataque militar fizesse os eleitores passarem para o seu lado. E estava sendo duro com Hood. Realmente gostava dele, como parceiro de pôquer ou companhia num jogo do Redskins. Mas Rodgers era um membro honorário da Escola Diplomática George Patton: ataque primeiro, depois negocie com um pé no pescoço do outro. E continuava convencido de que o Centro seria mais eficiente, respeitado e temido se colocasse sua inteligência numa Magnum calibre 45, em um computador Peer-2030.
– Não preciso lhe pedir para tomar cuidado – disse Hood – e boa sorte. Se alguma coisa der errado, ninguém poderá ajudar.
– Já sabemos. Vou dizer ao pessoal que você desejou tudo de bom.
Rodgers desligou e Puckett apareceu rápido como um raio para levar o rádio.
Squires tirou um dos fones de ouvido.
– Aconteceu alguma coisa, senhor?
– Várias. – Rodgers passou a mão debaixo do banco, puxou sua mochila e jogou-a no colo. – Talvez tenhamos que usar a espada antes que o chefe a enferruje.
– Senhor?
– Henry Ward Beecher. Sabe o que ele costumava dizer sobre ansiedade?
– Não, senhor. De cabeça, não.
– Ele dizia: “Não é o trabalho que mata o homem. É a preocupação. O trabalho é saudável. As preocupações é que são a ferrugem no fio da espada.” O Paul se preocupa demais, Charlie, mas me disse que se um único Nodong levantar a cabecinha, vamos estar livres para fazer algo mais do que simplesmente avaliar a situação para o Centro.
– Beleza – disse Squires.
Rodgers abriu o zíper da mochila.
– É por isso que está na hora de mostrar a você como usar essas coisinhas. – Retirou duas bolas de pouco mais de um centímetro de diâmetro, uma verde como a grama, a outra cinza escura. – Os EBCs. Eu trouxe vinte comigo, metade verde, metade cinza. Cada uma tem alcance de uma milha.
– Ótimo. E o que é que elas fazem?
– Exatamente o que os pedaços de pão fizeram na história de João e Maria. – Passou as esferas a Squires, meteu a mão na bolsa e retirou um instrumento do tamanho e do formato de um pequeno grampeador. Abriu na dobradiça. Lá havia um minúsculo visor de cristal líquido e embaixo dele quatro botões, um verde, um cinza, um vermelho e um amarelo. Um fone de ouvido estava ligado à lateral do instrumento e Rodgers sacou. Tocou no botão vermelho e uma seta apareceu, apontando na direção de Squires e bipando alto.
– Levante as bolas – ordenou Rodgers.
Squires obedeceu e a seta o seguiu.
– Quanto mais longe você vá, mais baixo o bip vai ficar. Foi o Matt Stoll que criou isso para mim. Simples, porém genial. Na hora em que fizer sua incursão inicial num território, você põe as bolas no chão – verde, se for floresta e cinza, se o terreno for rochoso. Na hora de voltar, é só ligar o rastreador, colocar o fone de ouvido para o inimigo não ouvir os sons e seguir de uma bolinha até a outra.
– Como ligar os pontos.
– Exatamente. Com isso e o nosso equipamento de visão noturna, vamos poder andar como um magnífico leão das montanhas.
– Pedacinhos de pão eletrônicos – riu Squires, devolvendo-os a Rodgers. – “João e Maria”. Isso não parece ser coisa de gente grande, não, senhor?
– As crianças gostam de brigar e raramente pensam na morte. São soldados perfeitos.
– Quem disse isso?
Rodgers sorriu.
– Eu estou dizendo, Charlie. Eu.
Sessenta e Três
Quarta-feira, 5:20, Zona de Armistício
Donald soube do ataque a Sariwon uma hora antes – após concluir mais uma viagem de reconhecimento para o Centro – e ainda não conseguia acreditar. O general Schneider fora acordado, recebera a notícia e passara para ele – com um prazer que Donald achara repugnante.
Mais uma pessoa tinha morrido, uma vida se acabado para que o presidente dos Estados Unidos fizesse o papel de durão. Donald perguntou-se se Lawrence tomaria a mesma atitude se o militar estivesse a um metro de distância olhando para ele, sob a mira de um revólver.
Claro que ele não ia atirar. Uma pessoa civilizada simplesmente não faria isso.
Então, o que levava certas pessoas civilizadas a matar só para subirem na cotação do eleitorado ou provar alguma coisa? Lawrence responderia, como vários presidentes fizeram no passado, que vítimas assim evitavam um número muito maior de perdas no futuro. Mas Donald sustentava que o diálogo evitava um número ainda maior de vítimas, desde que um dos lados não tivesse medo de parecer fraco ou conciliatório.
Ele olhou para o horizonte, para o edifício de negociações que se erguia na fronteira, os dois lados fortemente iluminados e vigiados, para evitar que alguém entrasse desapercebido. As bandeiras das Coreias do Norte e do Sul pendiam de mastros surrealisticamente altos. Haviam acabado de pôr uma ponta no da Coreia do Sul, em vez de uma bola, para que ficasse 12cm mais alta – por enquanto. Com toda certeza, uma ponta de 15cm já fora encomendada. E depois, o sul colocaria outra maior. Ou talvez um cata-vento, uma antena... As possibilidades eram absurdas e infinitas.
Todos os problemas podiam ser resolvidos no interior daquelas quatro paredes, desde que os participantes assim desejassem. Soonji certa vez dera uma palestra sobre isso para negros e coreanos em Nova York, em 1992, quando a tensão entre os dois grupos atingia o seu auge.
Imaginem uma corrente, disse ela. Se uma pessoa de cada lado quiser a paz e conseguir convencer o seu vizinho e esses dois convencerem mais dois, e esses quatro, mais quatro, já vai ser um começo para o que queremos.
Um começo... não um fim. Chega de sangue derramado, de dinheiro jogado fora. Chega de ódio sendo incutido nas mentes da nova geração.
Donald começou a se afastar da fronteira e do edifício. Voltou os olhos para as estrelas.
De repente se sentiu muito cansado, totalmente envolvido pela dor e por uma sensação de dúvida e desespero. Talvez o Schneider é que estivesse com a razão. Talvez a Coreia do Norte o usasse e ele só piorasse as coisas tentando “fazer as pazes”.
Donald parou, sentou-se exausto no chão e deitou com a cabeça num tufo de grama. Soonji o teria encorajado a ir em frente. Era uma otimista, e não realista, mas tinha conseguido quase tudo o que decidira realizar.
– E eu sou pragmático – disse ele, com lágrimas nos olhos – como sempre fui. E você sabe, Soon. – Procurou uma constelação conhecida no céu, que lhe desse algum sinal. Mas só viu uma confusão de estrelas.
– Se eu recuar de tudo em que sempre acreditei, então ou eu vivi uma mentira... ou vou começar a viver uma, de agora em diante. Não acredito que agi errado, por isso vou ter que ir em frente. Por favor, Soonji, me ajude, me empreste um pouco da sua confiança.
Um vento morno soprou nele, e Donald cerrou os olhos. Ela não ia voltar nunca mais, obviamente, mas ele podia ir até ela, senão em vida, pelo menos em sonho. E enquanto estava deitado no silêncio e na escuridão, entre o sono e o estado de alerta, não se sentiu mais sozinho ou inseguro.
Três quilômetros a oeste dali e alguns metros sob a terra, o último tambor da morte concluía sua rota até a Coreia do Norte, carregando um tipo diferente de sono...
Sessenta e Quatro
Terça-feira, 16:00, Centro de Operações
– Como é que está o tempo lá fora? – perguntou Hood, ao entrar na sala de Stoll.
Stoll teclou Shift/F8, depois 3 e 2.
– Tempo claro, vinte e cinco graus, vento sudoeste. – Quando terminou, voltou para os teclados, dando instruções, esperando e depois dando outras.
– Como é que está indo, Matty?
– O sistema todo está limpo, com exceção dos satélites. Pretendo tê-los de volta em noventa minutos.
– Por que tanto tempo? Não é só escrever um programa para apagar?
– Nesse caso, não. Há resquícios do vírus em todas as fotos que temos no arquivo daquela região desde a década de 70. Usaram imagens de tudo quanto é lugar. Tem um artigo do Ken Burns sobre equipamentos norte-coreanos no meio das fotografias de hoje, tudo misturado. Eu gostaria de bater um papo com o cara que fez isso antes de nós o matarmos.
– Não posso prometer isso. – Hood esfregou os olhos. – Já tirou um tempo para descansar?
– Ah, claro. E você?
– Estou tirando agora.
– Descanse trabalhando. Estique as pernas. Veja se estou estragando tudo outra vez.
– Matty, ninguém o está culpando pelo que aconteceu...
– Ninguém, menos eu. Pombas, eu costumava rir da cara do Shakespeare ou do cara que disse que “Por falta de cravo, perdeu-se a ferradura...”. Pois bem, ele estava com a razão. Eu me esqueci do cravo e por isso todo o império caiu. Será que eu posso fazer uma pergunta?
– Perfeitamente.
– Você sentiu uma pontinha de alegria quando os computadores enlouqueceram ou foi impressão minha?
– Não foi impressão. Não é que eu tenha me alegrado, é que...
– Tudo bem, Paul. Desculpe, mas foi isso o que pareceu.
– É possível. Eu acho que todos nós estamos envolvidos nessa armadilha do tempo, com tudo indo mais rápido do que é possível. Quando a comunicação era mais lenta e demorava para se fazer um reconhecimento, as pessoas tinham tempo para pensar e esfriar a cabeça, antes de ficarem se matando.
– Mesmo assim, elas se matavam. O forte Sumter teria acontecido mesmo sem o Dan Rather e o Steve Jobs. Eu só acho que você gosta muito de bancar o paizão e esses filhos não precisam de nós até pegarem o carro e se atirarem num canal.
Antes que Hood pudesse contestar – e, quando pensou com calma, mais tarde, ficou feliz por não ter protestado, porque Stoll tinha razão – Bob Herbert lhe mandou uma mensagem porpager. Hood pegou o telefone de Matt e teclou o número de Herbert.
– Aqui é Hood.
– Más notícias, chefe. Descobrimos o que o major Lee andou fazendo, hoje, pelo menos na maior parte do dia.
– Mais terrorismo?
– Parece que sim. Ele pegou quatro quartos de tambores de gás venenoso, chamado tabun, do depósito de materiais perigosos, na base militar de Seul. Tudo perfeitamente legal, a papelada toda em ordem. Consta que está levando para a Zona de Armistício.
– A que horas foi isso?
– Cerca de três horas depois da explosão.
– Então ele teria tempo suficiente para preparar a explosão, ir até a base e se dirigir para o norte, partindo-se do princípio que este destino é verdadeiro. E, em algum lugar do caminho, ele decidiu se livrar de Kim Hwan.
– Parece que sim.
Hood olhou para o relógio.
– Se ele partiu para o norte, já deve estar lá há pelo menos sete horas.
– Mas fazendo o quê? O gás tabun é relativamente pesado. Alguém ia perceber se ele estivesse carregando um míssil, e ele precisaria de um pulverizador para usar o gás contra as tropas.
– Restando aí a pergunta de quais tropas. Poderia usar contra nossos homens para fazer o Lawrence enlouquecer, ou nos norte-coreanos, para provocá-los. Não vou contar nada disso ao presidente, Bob. Ligue para o general Schneider na Zona de Armistício, acorde-o se for necessário e conte-lhe tudo sobre o Lee. Também mande-o encontrar o Donald e pedir para ele me telefonar.
– O que você vai dizer ao Greg?
– Que ele deve fazer contato com o general Hong-koo pelo rádio e dizer que temos um maluco à solta.
Herbert engoliu em seco com tanta força, que deu para ouvir pelo telefone.
– Vamos dizer à Coreia do Norte que os sul-coreanos estão por trás disso tudo? Chefe, o presidente vai deixá-lo mais morto do que o Ike Clanton.
– Se eu estiver errado, eu mesmo vou carregar o revólver.
– E a imprensa? A Coreia do Norte vai espalhar isso por toda parte.
– Vou conversar com a Ann. Ela vai preparar alguma coisa a respeito. Além do mais, a opinião pública mundial pode esfriar o ânimo do presidente, pelo menos por tempo suficiente para nós provarmos as nossas suposições.
– Ou sermos magistralmente despedidos.
– As vidas em jogo valem a pena. Faça o que estou mandando, Bob. Temos pouco tempo.
Hood desligou.
– Já sei – disse Stoll, olhando para ele. – Os meus dedos estão trabalhando o mais rápido que podem. Você só precisa descobrir que tipo de caminhão o Lee estava dirigindo. Vou arrumar os satélites o mais rápido possível.
Sessenta e Cinco
Quarta-feira, 6:30, Zona de Armistício
A vida inteira se esgueirando através de túneis, Lee nunca chegara a uma conclusão sobre que tipo era o pior: os úmidos e fedorentos que enchiam os pulmões com um cheiro azedo a perdurar várias semanas e com raízes arranhando a pele, ou os secos e sem ar para respirar como este, que infestavam o nariz e os olhos com poeira e deixava a boca dolorosamente seca.
Esse aqui é pior, disse a si mesmo. Com o cheiro, dá para acostumar. Com a sede, não.
Pelo menos seu trabalho já estava quase chegando ao fim. Estavam na última parte do túnel, com o último tambor. Dentro de mais alguns minutos, chegariam ao nicho que escavaram do outro lado. Ele ajudaria Yoo com os tambores e o resto era com ele: carregá-los até o alvo e colocá-los no lugar antes de o sol raiar. Yoo já tinha trazido as ferramentas de que precisava. Estudaram o percurso pelas montanhas e sombras várias noites antes e ninguém iria vê-lo.
Enquanto Yoo trabalhava, Lee voltaria e se encarregaria de Gregory Donald antes do encontro dele com Hong-koo. Aquilo era típico dos americanos. Os que não faziam impérios se metiam onde não eram chamados. Detestava-os por isso e por terem interrompido a guerra pouco antes da vitória final. Depois que o ajudassem a acabar com o governo de Pyongyang, cuidaria de expulsá-los de uma vez por todas do seu país.
O seu país – e não de Harry Truman, Michael Lawrence, do general Norbom ou do Schneider. A personalidade e o trabalho de seu povo foram subjugados e pervertidos por muitos anos, e agora aquilo ia acabar.
Apesar dos protetores que usava, os joelhos de Lee já estavam em carne viva de tanto engatinhar e se arrastar. O tapa-olho estava encharcado de suor e seu olho bom ardia. Contudo, precisava ter controle para não se apressar naqueles últimos metros e minutos, uma vez que estava chegando a hora dos eventos dois e três, o momento que tanto planejaram desde a primeira vez em que se aproximara do coronel Sun, há dois anos.
Ele continuou a avançar se esgueirando, apoiando-se na mão esquerda e rolando o tambor com a direita, os ombros encurvados. O olho bom se mexia de um lado para o outro à medida que iam progredindo, olhando para as paredes do túnel. E então os metros se transformaram em centímetros, os minutos viraram segundos e eles puseram o tambor de pé, junto com os outros três.
Yoo tirou uma escada de corda, que estava enrolada no nicho que haviam cavado e, com as costas apoiadas na parede da estreita passagem, subiu até a superfície. Amarrando a escada a uma pedra, jogou-a para baixo e começaram a subir os tambores.
O major Lee voltou engatinhando pelo túnel. Às vezes, seus joelhos sequer tocavam o chão, quando ele preferia se apoiar na ponta dos pés, suas pernas ultrapassando seus cotovelos à medida que avançava. Tirou a lanterna do ombro e a acendeu quando se aproximava do lado sul do corredor. Depois, pulou para a rota do contrabando. Apressou-se, com movimentos rápidos e constantes, e parou bem embaixo do buraco.
Não havia ninguém por perto. Recompondo-se, o major Lee bateu com a mão no bolso esquerdo, certificou-se de que o canivete estava lá e correu pela noite adentro.
Sessenta e Seis
Quarta-feira, 7:00, cordilheira do Diamante
A Browning 7.65 x 17 mm, conhecida oficialmente como a Tipo 64, era um pistola de fabricação norte-coreana. Era mais ou menos uma cópia da Browning Mle. 1900, da Fabrique Nationale belga, mas o que realmente interessava ao coronel Sun, e o motivo pelo qual pedira especificamente aquela arma ao coronel Oko, é que ela também era fabricada numa versão com silenciador.
Recostado no banco de trás do jipe, o ordenança de Sun passou uma 64 ao coronel e ficou com outra. Sun já havia conferido para ver se estava carregada, no momento em que saíram da praia. Confiava no coronel Oko só até certo ponto. Os pais de Oko e de Sun serviram juntos numa Coreia unificada, lutando contra os japoneses e brincaram juntos quando meninos. Mas, conquanto admirasse um homem capaz de deixar os próprios soldados morrerem por uma causa, não confiava muito nele.
E o que eu estou fazendo que é tão diferente assim? – perguntou Sun a si mesmo. Os soldados que trabalhavam com ele e o major Lee eram todos voluntários, mas e as milhares (ou dezenas de milhares) de pessoas que iriam morrer quando a guerra explodisse? Essas não eram voluntárias.
Mesmo assim, estavam fazendo o que precisava ser feito. Sabia disso desde 1989, quando dera forma à sua filosofia e publicara um panfleto anônimo chamadoCoreia é o Sul. Despertara a ira de intelectuais e ativistas pró-unificação, sinal de que estava no cantinho certo. No panfleto, ele não só sustentava que uma eventual reunificação seria um desastre econômico e cultural, mas também destruiria as vidas, carreiras e aspirações políticas de militares de ambos os lados da fronteira. Só isso bastaria para ensejar o caos, já que soldados como Oko não aceitariam facilmente dar baixa ou ocupar um cargo sem expressão. Sun prepararia um golpe que jogaria a península inteira numa guerra maior e mais sangrenta do que a conflagração relativamente pequena que estavam planejando. Além do mais, uma separação definitiva evitaria a repetição de confrontos brutais como os que aconteceram em 1994, em Seul, quando mais de sete mil soldados enfrentaram dez mil adeptos da reunificação, com mais de duzentos feridos. Protestos assim só iriam piorar, à medida que os Estados Unidos continuassem a se esforçar para ajudar a Coreia do Norte a substituir seus antigos reatores moderados a grafite. Os novos reatores nucleares acarretariam a diminuição na quantidade de plutônio e bombas atômicas que o norte poderia produzir, tornando-os assim mais propensos a assinar um pacto de defesa mútua com a Coreia do Sul.
A longo prazo, o curso de ação que ele e seu bando planejavam era preferível. E se o presidente dos Estados Unidos continuasse insistindo em se meter, em forçar a unificação com o sul, então ele e seus aliados descobririam que seria uma vitória sem vencedores.
Estava ficando tarde. Hora de agir. Sun e Kong puseram as mãos ao lado do corpo, segurando os revólveres, cano para cima, o silenciador chegando quase no cotovelo. Caminharam pela escuridão em direção à tenda de Ki-Soo. Passaram por uma sentinela que patrulhava a área, cheio de medalhas, uma enorme cicatriz na testa e aspecto sinistro. O homem bateu continência.
A entrada da tenda foi aberta e o coronel entrou.
Sun não titubeou, embora não deixasse de lamentar aquilo. Tinha lido a ficha de Ki-Soo e nutria um respeito meio a contragosto pelo homem. Seu pai fora soldado japonês e a mãe, prostituta na II Guerra Mundial. Ki-Soo batalhara muito para se livrar do estigma associado ao nascimento, formando-se em comunicações e entrando Para o Exército, onde ascendeu rapidamente. Era uma pena que, na melhor das hipóteses, iria morrer e, na pior, seria desonrado. Mas tinha mulher e filha, e o coronel esperava que ele fosse razoável.
O ordenança de Sun foi até o coldre pendurado na cadeira da escrivaninha de Ki-Soo e retirou a pistola Tokarev TT33. Colocou-a na parte de trás do cinto, enquanto Sun se abaixava com um joelho ao lado do catre de Ki-Soo e pousava a mão livre ao lado da orelha direita do coronel e o cano do revólver ao lado da orelha esquerda.
Ki-Soo acordou com um susto. Sun empurrou a cabeça dele contra o cano do revólver e segurou firme.
– Não se mexa, coronel.
Ki-Soo deu um impulso à cabeça e tentou se levantar, mas Sun o travou.
– Eu disse “não se mexa”.
O norte-coreano forçou o olhar na escuridão.
– Sun?
– Eu mesmo. Agora escute com atenção, coronel...
– Não estou entendendo...
Ki-Soo tentou se sentar, mas parou quando Sun apertou o revólver com mais força.
– Coronel, eu não tenho tempo para isso. Preciso de sua ajuda.
– Para quê?
– Quero o código para mudar as coordenadas de lançamento dos mísseis Nodong.
– Mas as suas ordens não diziam nada disso...
– Essas são ordens novas, coronel. Se o senhor não ajudar, vai ser difícil. Com a sua ajuda, vai ser mais fácil... e o senhor sobrevive. A escolha é sua.
– Quero saber de que lado você está.
– A escolha é sua, coronel?
– Eu não vou reprogramar os mísseis sem saber para onde!
Sun se levantou, a arma ainda apontada para a cabeça de Ki-Soo. Ele está fazendo o que um bom militar faria, pensou. Justiça seja feita.
– Não vão ser apontadas para nenhum lugar da Coreia do Norte, coronel. Isso é tudo o que eu posso dizer.
Ki-Soo olhou de Sun para o assistente.
– Quem está por trás de você?
Sun mudou o braço de posição e ouviu-se um estouro, seguido do assobio de gás sendo deflagrado, no momento que o revólver com silenciador disparou. Ki-Soo urrou de dor quando a mão esquerda foi lançada em direção ao catre com a direita segurando o ferimento.
No instante seguinte, ouviram passos apressados lá fora. Sun viu a lanterna de uma tenda vizinha se aproximar.
– Coronel, está tudo bem com o senhor?
Kong chegou perto da entrada, com a Tokarev e a pistola de 17mm apontando para lá.
O coronel moveu o braço, com a arma novamente apontada para a cabeça de Ki-Soo.
– Diga ao ordenança que está tudo bem.
Lutando contra a dor, Ki-Soo falou:
– Eu... eu acertei o pé com a minha faca.
– Precisa de alguma coisa, senhor? Eu tenho uma lanterna.
– Não! Eu estou bem, obrigado.
– Sim, senhor.
O ordenança se virou e voltou à sua tenda.
Sun olhou fixamente o militar.
– Kong, rasgue um pedaço desse lençol e cubra a mão dele.
– Afaste-se! – sussurrou Ki-Soo. Puxou a fronha e apertou contra a própria mão.
Sun deu-lhe um momento, depois falou:
– O meu próximo tiro vai pegar mais alto. Agora, coronel, o código.
Ki-Soo estava lutando para manter a compostura:
– Cinco-um-quatro-zero na linha de baixo... faz você entrar no sistema. Zero-zero-zero-zero na linha do meio... apaga todas as coordenadas e permite trocá-las. Depois disso, qualquer código que você usar na linha de baixo vai fixar as coordenadas.
As coordenadas. Aquilo era quase uma piada na Coreia do Sul. Os sistemas americanos funcionavam a partir de mapas topográficos e imagens fotográficas embutidas, fornecidas pela vigilância aérea ou por satélite. Esses mísseis eram capazes de encontrar um jipe específico num acampamento movimentado e cair no colo de qualquer um dos passageiros. Os Nodongs, ao contrário, podiam ser dirigidos para 360 direções e a elevação era selecionada de acordo com a distância do alvo. Era praticamente impossível de se acertar um quarteirão em particular.
Mas Sun não queria atingir um quarteirão em particular. Só queria uma cidade particular, e nela qualquer lugar servia.
– A que horas o pessoal das montanhas troca de turno? – perguntou Sun.
– Eles... são dispensados às oito horas.
– O oficial responsável tem de se apresentar a você?
Ki-Soo fez que sim. Sun disse:
– Vou deixar Kong com você. A entrada da tenda deve continuar fechada e você não vai atender ninguém. Se fizer alguma coisa fora isso que eu mandei, morre. Nós não vamos ficar aqui muito tempo e, quando acabarmos, o acampamento é seu.
Ki-Soo gemeu de dor ao apertar a fronha no ferimento, com o polegar da mão direita.
– Eu vou ser desonrado.
– Você tem família – disse Sun. – Tem toda a razão de pensar nela. – Virou-se para sair da tenda.
– Os mísseis estão apontados para Seul. Que alvo... poderia ser mais importante?
Sun não disse nada. Dentro de muito pouco tempo, ele e o resto do mundo saberiam.
Sessenta e Sete
Quarta-feira, 7:10, Osaka
– General Rodgers, eu pensei que o piloto estivesse nos levando a um lugar com sol!
Mesmo com todo o barulho dos motores, o tenente-coronel Squires, assim como todo o resto da equipe de ataque, conseguia ouvir o barulho da chuva batendo no avião que atravessava a baía Ise, aproximando-se de Osaka. Rodgers ficava sempre maravilhado e impressionado com dissonâncias como aquela – como ouvir uma harpa no meio de uma orquestra. De certa maneira, era parecido com a filosofia por trás da equipe de ataque. De Davi e Golias à Revolução Americana, o tamanho nem sempre significava domínio. O dramaturgo Peter Barnes um dia escrevera sobre uma pequena hera dividindo um caminho, e essa imagem – e não apenas os Andrew Jacksons, os Joshua Chamberlains e os Teddy Roosevelts da vida – motivara Rodgers a seguir em frente em alguns de seus momentos mais difíceis. Ele até pedira à irmã para costurar o desenho na mochila, para que sempre se lembrasse dela.
O praça Puckett interrompeu os pensamentos de Rodgers, batendo continência e com um grito de “Senhor!”.
Rodgers tirou os fones de ouvido.
– O que é, praça Puckett?
– Senhor, o general Campbell diz que tem um avião a jato C-9A esperando para nos levar.
– Deixa ele para o Exército – disse Squires. – Nós temos um Nightingale desarmado para nos levar até a Coreia do Norte.
– Pessoalmente, eu preferia ter um bom e belo Black Hawk – disse Rodgers – , mas há um problema de autonomia. Obrigado, praça.
– De nada, senhor.
Squires riu, enquanto Puckett voltava ao seu lugar.
– Johny Puckett é realmente muito bom, senhor. Ele conta que o pai dele colocava um rádio Ham em seu quarto quando era bebê... tornando-o ajustável com velhos botões.
– É preciso elogiar uma coisa assim. É como antigamente, quando as pessoas aprendiam um ofício e se tornavam realmente boas no assunto.
– É verdade, senhor. Só que se você não for realmente bom, como aconteceu com o meu pai no futebol, está fodido!
– E você, está?
– Parece que sim.
– Ele legou a mesma força e ambição para você, não foi? O Rei Artur não conseguiu ir pessoalmente em busca do Cálice Sagrado. Moisés não pôde atravessar o Jordão. Mas eles inspiraram outros a atingirem essas coisas.
Squires abaixou a cabeça.
– O senhor me faz sentir culpado por não escrever para casa.
– Você pode mandar um cartão de Osaka, na volta.
Rodgers sentiu o avião se inclinar para o sudoeste. Na volta. As palavras sempre ficavam presas na garganta. Nunca se sabia se iriam voltar. Simplesmente se esperava que fosse assim. Mas era tão comum isso não acontecer que mesmo combatentes experientes às vezes se surpreendiam com essa percepção. As palavras de Tennyson voltavam para o atormentar, como geralmente acontecia:
Para casa lhe trouxeram o guerreiro morto. Ela não desmaiou, tampouco chorou. E, vendo aquilo, todas as filhas disseram:
“Ela precisa chorar ou morrerá.”
O avião pousou e, enquanto o capitão Harryhausen reclamava do tempo, a equipe de ataque já corria para o helicóptero que a espe rava. Quatro minutos depois da porta do C-141 ter se aberto, já estavam lá dentro e decolando.
O suave e esbelto jato do Comando Aéreo Militar subiu rapidamente no meio da chuva que caía e dirigiu-se para o nordeste. Os homens estavam sentados como antes, em bancadas ao longo da fuselagem, mas agora o ânimo era completamente diferente. Os que tinham dormido, lido ou jogado cartas na viagem até Osaka estavam elétricos. Conferiam o equipamento, davam força uns aos outros e alguns rezavam. O praça Bass Moore cuidava de arrumar os paraquedas e checava as linhas, enquanto o jato voava baixo sobre o mar do Japão, enfrentando os ventos fortes e as chuvas.
Um oficial de Seul estava a bordo, repassando a estratégia de retirada com Squires. Um Sikorsky S-70 Black Hawk ficaria esperando para recebê-los. O helicóptero poderia passar pela Zona de Armistício e chegar à cordilheira do Diamante em apenas alguns minutos. Mais importante do que isso, o helicóptero de 11 lugares contava com duas metralhadoras M-60 nas laterais para assegurar que escapariam.
Com apenas vinte minutos até a hora do lançamento, Rodgers chamou Puckett e pediu-lhe para ligar para Hood.
O diretor estava mais nervoso do que Rodgers esperava e aquilo era bom.
– Mike, está começando a parecer que o caldo vai engrossar.
– O que aconteceu?
– O presidente não consegue aceitar, mas estamos convictos de que um grupo sul-coreano está por trás de tudo isso e também soubemos que um piloto transportou dois homens de uma balsa no mar do Japão. O cara estava tão nervoso que bateu com o avião no pouso e confessou tudo para a polícia costeira. Disse que tinha levado os homens até Kosong.
– Kosong? Fica a três passos dos Nodongs.
– Exatamente. E havia dois corpos na barca. Os mortos carregavam dinheiro de jogo do Japão para a Coreia do Norte. Dezenas de milhares de dólares.
– É um dinheiro bem razoável para se comprar alguém no norte. A maioria daqueles bastardos venderia o próprio filho por mil dólares.
– É exatamente o que o Bob disse. É meio forçado acreditar que alguém do sul planeje usar esse dinheiro para controlar o sítio dos Nodongs, mas não podemos deixar de lado essa possibilidade.
– O que significa que temos que ir até lá e descobrir a verdade.
– É isso aí. Desculpe, Mike.
– Não se desculpe. É para isso que fomos contratados. Parafraseando George Chapman, a ameaça é o que nos torna leões.
– Perfeitamente. E como disse Kirk Douglas em O invencível, “o nosso negócio é como todos os outros, só que o sangue aparece”. Cuidado e diga a Charlie e aos rapazes para fazerem o mesmo.
– Dez minutos! – gritou Squires.
– Muito bem, Paul – disse Rodgers. – Falo com você pelo rádio quando tivermos alguma notícia. E, se isso for algum consolo, prefiro fugir das balas do que da imprensa num caso como este. Boa sorte para vocês também.
Sessenta e Oito
Quarta-feira, 7:20, Zona de Armistício
O general Schneider se esqueceu do sonho no momento em que o ordenança entrou. Tudo o que se lembrava era que estava esquiando em algum lugar, e gostando muito. A realidade e o ar seco da noite sempre o traziam de volta com um susto desagradável.
– Senhor, Washington chamando.
– O presidente?
– Não, senhor. Este Washington, não. Um tal de Bob Herbert, do Centro de Operações.
Schneider rogou uma praga.
– Provavelmente querem que eu ponha o Donald numa camisa de força. – Colocando seus chinelos, o general foi até a escrivaninha e, aliviado, aninhou-se na cadeira giratória e atendeu o telefone.
– General Schneider.
– General, aqui é Bob Herbert, oficial de informações do Centro de Operações.
– Ouvi falar do senhor. Líbano?
– Exatamente. O senhor tem uma memória formidável.
– Bob, eu nunca me esqueço de uma estupidez. A porcaria daquela embaixada tinha praticamente um cartaz de “Acertem-me” para os terroristas. Nenhuma barricada pesada na frente, nada que impedisse um terrorista disposto a dirigir um caminhão até as portas de Alá. – Recostou-se na cadeira e abriu bem as pestanas para espantar o sono. – Mas chega de falar de antigos erros. O senhor está me chamando para evitar um novo equívoco.
– Espero que sim – disse Herbert.
– É, eu não sei que diabo aconteceu com o homem. Bem, na verdade, sei. A mulher dele morreu ontem. Donald é um homem bom. Só não está pensando com clareza.
– Mas eu espero, pelo menos, que esteja suficiente consciente para ir lá sob ordens oficiais.
Schneider deu um pulo para a ponta da cadeira.
– Espere aí! O senhor está me dizendo que está apoiando essa reuniãozinha idiota?
– O diretor Hood pediu a ele que mandasse uma mensagem. Que nós acreditamos que uma equipe de sul-coreanos, fazendo-se passar por coreanos do norte, está por trás do atentado... e que esse pode ser apenas o primeiro de uma série de ataques terroristas destinados a nos jogar numa guerra.
– Os nossos próprios aliados? – Schneider ficou mudo como uma coruja. – Porra, tem certeza?
– As peças estão se encaixando – disse Herbert. – Acreditamos que um tal de major Lee esteja por trás de tudo.
– Lee? Já nos encontramos. Cara de pedra, ultrapatriota. Gostei dele.
– Parece que reuniu um pequeno grupo e aparentemente está aí na sua área... com quatro tambores de um quarto de gás venenoso.
– Vou chamar o general Norbom e mandar uma equipe de busca e destruição para encontrá-lo.
– Isso não é tudo. Alguns de seus homens podem estar tentando obter o controle de uma unidade móvel de mísseis Nodongs, no leste.
– Gente ambiciosa – disse Schneider. – Tem certeza de que quer que o Donald conte tudo isso ao Hong-koo? Todas as agências vão noticiar antes de ele terminar de falar.
– Nós sabemos.
– Também vão matar o pessoal do Lee na primeira oportunidade. Já pensou no que vai acontecer quando vazar a informação de que os Estados Unidos foram responsáveis pela morte de sul-coreanos? Seul vai explodir. Vai ficar igual à porra de Saigon.
– Hood também está ciente disso. Está preparando alguma coisa com a Assessoria de Imprensa.
– Eu recomendaria um enterro duplo. Vocês podem estar criando um tipo de crise constitucional, obstruindo efetivamente os poderes do Salão Oval em declarar a guerra.
– Como já falei, o chefe está ciente disso.
– Muito bem, Bob, vou passar a mensagem. E vou mandar uma para o sr. Hood. Ele pode não ter o tanque do cérebro cheio, mas o último cara que eu conheci tão despeitado foi o Ollie North.
– Obrigado. Tenho certeza de que ele vai tomar isso como um elogio.
Gregory levantou de seu cochilo sentindo a cabeça extremamente tranquila e aliviada.
Sentando no mato, olhou para a fronteira fortemente iluminada. Como era perfeito que o ódio e a suspeita levassem os dois lados a iluminar a área. A desconfiança sempre deixa as pessoas no escuro.
Tirou o cachimbo do bolso e começou a enchê-lo com o que restava do Balkan Sobraine. Depois de acender, continuou segurando o fósforo para iluminar o relógio.
Está quase na hora.
Ele tragou devagar e pensou na fumaça, nos Balcãs e como um incidente isolado lá ocorrido – o assassinato do arquiduque Ferdinando – deflagrou a Primeira Guerra Mundial. Será que um acontecimento isolado também iria disparar uma Terceira Guerra Mundial? Era possível. Havia mais do que tensão no ar. Havia pura e simples loucura. De manter o ego à custa de vidas, de pintar imagens com sangue. O que está errado conosco?
Vindos de trás, faróis encontraram o ex-diplomata. Donald se virou e protegeu os olhos, enquanto o jipe se aproximava.
– Conversando com as estrelas? – perguntou o general Schneider, saltando do banco do passageiro. Caminhou até Donald. Era uma figura imponente.
– Não, general. Com a minha musa.
– Devia ter-me dito aonde ia. Se não tivesse acendido o fósforo, íamos ficar procurando até o amanhecer.
– Eu não mudei de ideia, se é por isso que veio me procurar.
– Absolutamente. Eu tenho um recado do seu chefe.
Donald sentiu o peito enrijecer. Torceu para que o general não tivesse falado com a Casa Branca.
O general Schneider contou-lhe o que Herbert dissera e Donald sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Não era apenas a satisfação de que a primeira intuição sua e de Kim Hwan estivesse certa, mas agora havia toda a possibilidade de que a fogueira fosse apagada.
Estranhamente, pensou, não estava surpreso com o envolvimento do major Lee. Quando se viram antes, havia algo no olho dele, no último olhar que lançou, que não caía bem. Era inteligente, mas com um toque de... suspeita, talvez, ou quem sabe desdém.
– Nao vou fingir que estou contente – terminou Schneider – , mas agora não vou me meter no seu caminho.
– E ia se meter antes?
– Eu estava fortemente inclinado a isso, sim. E ainda pretendo colocar nos anais que sou pessoalmente contra um acordo, mas o mundo precisa de todo o tipo de gente para existir. – Schneider voltou ao carro. – Sobe aqui. Vou lhe dar uma carona.
– Prefiro andar. Ajuda a desanuviar a cabeça.
Schneider não olhou para trás quando entrou no jipe. O ordenança manobrou e saiu dali, deixando para trás um cheiro de óleo diesel.
Donald seguiu seu caminho, fumando feliz, sabendo que Soonji ficaria supresa e orgulhosa com o rumo que as coisas tomaram.
Enquanto andava, sentiu uma pontada na nuca. Ergueu a mão para se coçar, mas tocou em aço e estacou.
– Embaixador Donald – disse uma voz conhecida, enquanto a faca traçava um linha afiada do cangote até embaixo do queixo.
Donald sentiu um fio de sangue descer pela nuca e sob o nó da gravata, enquanto via a cara do major Lee ao fogo do cachimbo.
Sessenta e Nove
Terça-feira, 17:30, Centro de Operações
Quando Ann Farris entrou na sala de Matt Stoll, o assessor de apoio operacional abafou um riso.
– Pombas, gente, não precisa acabar comigo.
Paul Hood estava sentado numa pequena poltrona de couro nos fundos da sala. Havia um tela de televisão de 25 polegadas no teto e um aparelho de videogame na prateleira. Stoll se sentava naquela poltrona bem gasta sempre que precisava de um tempo para pensar e relaxar.
– Eu não o estou pressionando – disse Hood. – Só quero ser informado no instante que tiver os satélites.
– Vamos ficar quietinhos – disse Ann, ao se sentar. Olhou para Hood, com os olhos cheios de tristeza. – Eu não posso mentir para você, Paul. Vão acabar conosco mesmo se estivermos certos.
– Eu sei. Daqui a meia hora, o Donald vai se encontrar com a Coreia do Norte e depois disso a imprensa mundial vai triturar o presidente e a Coreia do Sul por escalarem a violência, quando sabiam que Pyongyang era inocente. Resultado? Lawrence vai ter que refrear o seu ímpeto.
– Ou se mostrar um fazedor de guerra.
– Exatamente. E, se descobrirem que o major Lee não estava por trás de tudo isso, então todo o mundo vai ouvir as desculpas da Coreia do Norte e eles mesmos vão punir o culpado e limpar a própria casa. E, se foi Pyongyang que autorizou o atentado, podem se recompor e atacar outra vez. De um jeito ou de outro, o presidente se queima.
– Você resumiu a situação muito bem – disse Ann. – Detesto ficar do lado de Lowell, mas ele acha que você devia dizer ao Donald para adiar a reunião. O norte já vai fazer um auê com isso, mas esse nós podemos contornar. Podemos dizer que ele agia sozinho.
– Eu não vou fazer isso com o Donald, Ann. – Virou-se para Stoll. – Preciso logo desses satélites, Matty!
– Você disse que não ia me pressionar.
– Eu me enganei.
– O que um satélite vai poder fazer, a essa altura? – perguntou Ann.
– Há soldados procurando o Lee, mas ninguém está procurando os homens que devem ter ido aos Nodongs. O Mike e os comandos devem chegar lá daqui a pouco. Se pudermos achar uma prova da incursão e o Mike puder pará-los, provamos que estávamos certos... e o presidente ganha uma ação militar exemplar e se mostra como o tal. A Coreia do Norte vai reclamar por termos invadido seu território, mas a repercussão vai ser igual a quando Israel entrou em Entebbe.
Os olhos de Ann se arregalaram.
– Mas isso é fantástico, Paul. É muito bom.
– Obrigado. Mas só vai dar certo se eu tiver...
– Já tem! – gritou Stoll, empurrando a cadeira para trás e batendo as duas mãos.
Enquanto Hood corria até lá, Stoll ligou direto para o DVN. Stephen Viens atendeu imediatamente e Stoll colocou a chamada em viva voz.
– Steve, o sistema está reativado.
– Foi o que eu pensei, ao ver aquele velho encouraçado soviético sumir do mar do Japão.
– Steve, aqui é Paul Hood. Deixa eu ver o sítio dos Nodongs na cordilheira do Diamante. Suficientemente perto para divisar todos os três mísseis.
– Isso seria uns duzentos pés de altitude. Estou programando as coordenadas e... está respondendo. Visor noturno no lugar, a foto já foi batida e a câmera está digitalizando a imagem. Começando a aparecer no monitor...
– Mande para cá enquanto está aparecendo.
– Já vai, Paul. Matty, você fez um trabalho de gênio.
Stoll preparou o computador no módulo de recepção e Hood se inclinou para ver o monitor à medida que a imagem chegava. Chegou em rápidos pedaços de cima a baixo da tela – como um ultra-rápido Etch-A-Sketch, era o que sempre pensava. Ann colocou-se atrás dele e carinhosamente pôs a mão em seu ombro. Hood ignorou o modo como Matty ergueu as sobrancelhas, mas não conseguiu fazer o mesmo com a eletricidade do toque, enquanto a imagem em preto-e-branco se materializava rapidamente.
– O míssil de cima está apontado para o sul – disse Hood. – Os da esquerda e da direita...
– Meu Deus! – interrompeu Stoll.
– Exatamente.
Ann se inclinou sobre Hood.
– Os laterais estão apontados em direções diferentes.
– Um para o sul – disse Stoll – e o outro...
– Para o leste – disse Hood. – O que significa que alguém conseguiu entrar lá. – Ergueu-se e correu até a porta. Não queria espantar a mão de Ann, mas foi isso o que acabou fazendo.
– Como é que você sabe?
Hood falou sobre o ombro enquanto corria para o hall:
– Porque nem a Coreia do Norte seria doida o suficiente para apontar um míssil para o Japão.
Setenta
Quarta-feira, 7:35, Zona de Armistício
– Major Lee – disse Donald, a voz baixa. – De certa maneira, eu não estou surpreso.
– Mas eu estou – disse Lee e enfiou a faca com mais força sob o queixo do americano. – Por mim, eu já teria terminado o meu serviço, mas estou aqui, cuidando de você.
– E o seu serviço é matar pessoas inocentes e começar uma guerra.
– Não existem pessoas inocentes...
– Engano seu. Minha mulher era inocente.
Donald levantou a mão devagar. Lee aprofundou ainda mais a faca, mas Donald continuou a erguer o braço.
– A sua mulher e o senhor, embaixador, facilitaram a vida de quem abandonava o país. O senhor é tão corrupto como os outros e está na hora de o senhor...
Donald se moveu tão rápido que Lee nem teve tempo de reagir. Com o fornilho do cachimbo na mão esquerda, Donald girou a haste, pegou a faca e jogou-a para a esquerda. O fornilho ficou de frente para Lee e, lançando-o à frente, Donald prensou o fumo contra o olho direito do coreano. Lee urrou e deixou cair a faca, que Donald pegou rápido.
– Não! – gritou Lee, enquanto se virava e corria ao amanhecer.
Donald correu atrás dele, ainda segurando a faca.
Lee se dirigiu para o lugar onde era sabido que os norte-coreanos tinham escavado túneis. Donald se perguntou se o major o estava atraindo propositadamente para longe da base sul-coreana. Será que era ali que ele pretendia usar o gás?
Diftálmente, pensou. Lee estava vestido com o seu uniforme sul-coreano. Ia para o norte para, de algum modo, lançar o gás. Se fosse pego, o sul seria culpado. Por um momento, Donald pensou em parar para avisar Schneider, mas o que o general iria fazer? Ele não seguiria o major até a Coreia do Norte.
Não. Donald sabia que era o único que podia ir. Respirava com dor e dificuldade, enquanto corria aos tropeções atrás da figura do major, que desaparecia. Lee colocava cada vez mais distância entre eles, pelo menos uns duzentos metros, mas se dirigia para o leste. Com a manhã tomando o lugar da noite, Donald podia estar perdendo terreno, mas pelo menos conseguia ver para onde a sua presa ia.
E então Lee desapareceu.
Donald parou para recuperar a respiração. Era como se a terra o tivesse engolido, e Donald percebeu que Lee devia ter descido por um túnel. Marcou a área – um matagal de aproximadamente vinte metros – e andou rapidamente até lá, contando os passos para fazer a mente se esquecer do quanto suas pernas e seus pulmões doíam.
Poucos minutos depois de Lee ter desaparecido, chegou à entrada do túnel. Ele não esperou, imaginando que, se Lee tivesse uma arma, já a teria usado no descampado. Dobrando o canivete e colocando-o no bolso, Donald se ajoelhou e entrou pela rota do contrabando, batendo várias vezes com as costas enquanto descia. Chegou ao fundo, quase exausto, e escutou. Ouviu rastros e barulhos mais adiante. Riscou um fósforo e viu o túnel. Soube imediatamante para onde Lee fora.
Se alguma coisa acontecesse, queria que Schneider soubesse onde tinha ido. Ele se virou e tocou fogo na rota do contrabando, agachando-se à medida que a fumaça tomava conta da passagem. Esgueirou-se no túnel, torcendo para que o general visse a fumaça e o fogo. Também esperava que pudesse chegar ao outro lado sem ficar inteiramente sufocado. E, chegando lá, que pudesse encontrar Lee, antes que ele tivesse condições de levar a cabo a sua inspiração insana.
Setenta e Um
Quarta-feira, 7:48, cordilheira do Diamante
Um salto de paraquedas é uma coisa bem diferente das expectativas de quem pula pela primeira vez. O ar é incrivelmente denso e sólido. Cair no ar é como pegar onda na praia. Durante o dia, existe pouquíssimo senso de profundidade, pois os objetos ficam muito longe e aparecem chapados. A noite, simplesmente não há senso de profundidade algum.
Mesmo com todos os homens pulando antes, Mike Rodgers ficou surpreso com a maneira como se sentia sozinho. Não via nada, só sentia a resistência do vento e mal podia ouvir a própria voz enquanto contava até vinte, antes de puxar a argola. Aí, então, as lufadas de vento foram transformadas numa brisa agradável e todo o resto ficou quieto.
Tinham saltado de apenas cinco mil pés de altitude e o solo parecia vir rapidamente, como o co-piloto alertara. Rodgers escolheu um ponto de referência tão logo puxou a argola: uma copa de árvore bem alta, que sobressaía à luz da manhã. Mirou-a enquanto descia. Era a única referência que tinha e, quando chegou naquela altura, preparou-se para aterrissar. Dobrou levemente as pernas e, quando os pés tocaram o chão, aparou a queda fletindo as pernas ainda mais, e a seguir caindo e rolando. Quando estava de lado, soltou o paraquedas, levantou-se rapidamente e dobrou-o nos braços. Só sentia um pouco de dor no lugar onde os tendões de Aquiles tinham estirado na hora de aterrissar. Sua alma se empolgava com essas coisas, mas o físico já não era tão elástico como antes.
Bass Moore já corria em direção a ele, seguido por Johny Puckett com o rádio TAC SAT.
– Como é que fomos? – perguntou Rodgers a Moore, mais calmo.
– Todo mundo desceu bem.
Puckett desdobrou a antena parabólica e estabeleceu o link antes do resto da equipe chegar. Enquanto Moore pegava o paraquedas de Rodgers e corria a um lago próximo para afundá-lo, Squires chegou ao seu lado.
– Tudo bem com o senhor?
– Os velhos ossos até que aguentaram. – Apontou para o rádio. – Faça a chamada. Lembre-se de que a missão é sua.
– Obrigado, senhor – disse Squires.
Agachando-se, o tenente-coronel pegou o fone de ouvido das mãos de Puckett e ajustou o microfone, enquanto o praça teclava a frequência.
Bugs Benet respondeu e Hood entrou rapidamente.
– Mike, já desceu?
– Aqui é o Squires, senhor. A resposta é sim. Todo mundo desceu.
– Ótimo. Novo desdobramento. Nos últimos dez minutos, todos os três mísseis Nodong foram recalibrados. Em vez de apontarem para Seul, estão apontando para o Japão.
– Todos os três mísseis apontados para o Japão – disse Squires, olhando para Rodgers. – Estou anotando.
– Meu Deus – exclamou o general.
– Devem ir lá, sob minhas ordens, e destruí-los.
– Sim, senhor.
– Câmbio desligo – disse Hood.
Squires tirou os fones de ouvido. Enquanto falava com Rodgers, os membros da equipe de ataque carregavam as Berettas automáticas. O sargento Chick Grey, encarregado dos mapas, conferia as cópias que Squires lhe dera.
Ao ouvir que quase certamente teriam que destruir os Nodongs, Rodgers desejou que tivessem trazido os explosivos. Porém, a Coreia do Norte tinha fama de negociar homens armados, enquanto homens munidos de explosivos, em missões de alta sabotagem, eram mortos no ato. Entretanto, era um dos poucos riscos que gostaria de correr. Os circuitos de controle daqueles mísseis eram fechados em caixas-fortes de segurança e seria extremamente difícil encontrá-los, especialmente se tivessem pouco tempo. Se não pudessem contar com explosivos no local, não sabia o que fazer.
O sargento Grey foi até Squires. Utilizando uma lanterna laser do tamanho de uma caneta, apontou para o mapa na escuridão que rapidamente se esvanecia.
– Senhor, o piloto fez um belo trabalho. Estamos a menos de seis quilômetros e meio da localidade. Aqui. – Índicou uma floresta a sudeste da depressão onde estavam os mísseis. – A marcha é basicamente morro acima, mas a inclinação não é das piores.
Squires ergueu a própria mochila e carregou sua arma.
– Adiante, sargento – falou, praticamente murmurando. – Fila indiana. Moore, você vai na frente. Ao primeiro sinal de vida, dê o alerta.
– Sim, senhor! – disse Moore e foi para o começo da fila.
Squires foi para perto dele, com Rodgers logo atrás.
Enquanto andavam pelo campo, o azul-marinho do horizonte ficou mais claro e depois amarelado. Marcharam morro acima entre florestas cada vez mais densas.
Aquela era a hora preferida de Rodgers. Os sentidos e o clima de expectativa estavam no ápice. O reflexo puro e o instinto de sobrevivência ainda não tinham se alojado nele e havia tempo de sentir o gosto do desafio que se aproximava. Para Rodgers, assim como para a maioria dos homens escolhidos para integrar a equipe, o desafio era mais importante do que a segurança, que as suas vidas e as próprias famílias. A única coisa que vinha na frente do desafio era o país e era aquela sinergia entre audácia e patriotismo que tornava os homens valiosos. Por mais que quisessem voltar para casa, ninguém se contentaria com um trabalho malfeito ou pela metade.
Rodgers se sentia orgulhoso e emocionado de estar ali com eles, embora se sentisse extremamente velho ao ver aqueles rostos de vinte e poucos anos que o cercavam, enquanto andava sobre seus calcanhares doloridos de 45 anos. Torcia para que o corpo estivesse à altura do desafio e lembrou-se de que até Beowulf fora capaz de derrotar um dragão cinquenta anos depois de enfrentar o monstro Grendel. Evidentemente, o velho Rei Jute perecera em decorrência daquela batalha, embora Rodgers dissesse que, quando chegasse a sua hora de morrer, ele não se importaria em ser consumido numa grande pira com cavaleiros à sua volta, cantando os seus feitos.
Doze cavaleiros, lembrava-se Rodgers, tentando não pensar na ironia de tudo aquilo, enquanto Moore chegava ao alto do morro. Agachou-se devagar, depois ergueu a mão, mostrando cinco dedos duas vezes.
Em algum lugar em frente havia dez homens.
Enquanto os homens se agachavam, Rodgers notou que o gostinho do antegozo terminara...
Setenta e Dois
Quarta-feira, 7:50, Zona de Armistício
Donald sabia que havia um momento em que o corpo não se aguentava nem com a máxima boa vontade. Estava se aproximando desta hora com bastante rapidez.
Respirando ainda com extrema dificuldade devido à corrida, ele suava loucamente e tossia seco, enquanto se esgueirava pelo túnel, cotovelos junto ao corpo, todo rasgado e sangrando por dentro do paletó – que não havia tirado justamente para tentar evitar aquilo. O calor era opressivo, o suor e a areia machucavam seus olhos e não se via luz. Cada passo naquele túnel aparentemente sem fim fazia o ombro dele bater duro contra a parede de terra.
No entanto, por todo o tempo, o barulho do major Lee mais adiante não tinha cessado e era isso o que o fazia continuar. E quando os sons não mais vieram, ele prosseguiu porque sabia que Lee saíra do túnel e que o fim estava próximo.
Finalmente, quando o corpo praticamente implorava para descansar, os braços e as pernas quase exaustos, Donald viu a luz e chegou à passagem que o tiraria daquele buraco asqueroso.
Levantou-se com muita dor e dificuldade. A parte inferior das costas lançou-lhe uma dor lancinante quando tentou se endireitar. Gregory tirou um momento para aspirar o ar mais frio e então viu que não tinha saída. Se antes havia uma escada, Lee a retirara.
Donald olhou em torno. A saída era estreita e, pressionando as costas na parede, enquanto os braços e pernas se esticavam contra a parede oposta, começou a subir como um caranguejo. Durante a subida de três metros, teve que parar duas vezes para evitar que caísse de costas. Carregava o canivete de Lee entre os dentes e costumava cravá-lo na terra como apoio, descansando e retomando as forças antes de prosseguir. Quando finalmente chegou à abertura, o sol aparecia e ele sabia onde estava. Já tinha visto a região do outro lado da cerca. Era a Coreia do Norte.
Estava no meio de uma cratera que evidentemente fora feita nos exercícios de artilharia. A saída ficava na borda sudoeste da cratera, impossível de se ver da base, aproximadamente a uns quatrocentos metros para o oeste (ou da cerca) e uns duzentos metros para o sul. Aquele túnel tinha que ser novo, cavado por Lee e seus homens. Se tivesse sido feito pela Coreia do Norte, a entrada seria mais perto da base, onde as pessoas pudessem ir e vir ao sul sem ser vistas.
Deitado contra a borda da cratera, Donald olhou por cima. Não via Lee em lugar algum. Ao norte havia uma série de morros baixos, com árvores e várias elevações e depressões, onde alguém podia se esconder. O solo árido e seco não deixava marcas e Donald não tinha ideia se Lee partira para as montanhas ou em direção à base.
Não que isso tivesse alguma importância, disse a si mesmo. O importante era achar o gás venenoso. Fosse o destino a base ou o norte (Pyongyang, em contraponto à explosão de Seul), o que tinha de fazer era ir ao general Hong-koo e relatar o que estava acontecendo.
Donald saiu da cratera caminhando com firmeza, sentindo-se bem melhor agora que deixara o túnel para trás e seus músculos tinham chance de relaxar. Continuou a ir em frente, esperando ver Lee de alguma forma, mas daquele lado só havia silêncio. Do lado sul, as patrulhas estavam chegando e sendo substituídas por um novo turno.
É claro, pensou Donald. É por isso que Lee escolhera aquela hora. Os guardas sempre ficavam mais dispersos quando o turno chegava ao fim.
Ele olhou de novo para o fundo das barracas e achou que viu um brilho à luz do sol nascente, atrás de um morrinho. Parou e forçou os olhos para enxergar melhor. E viu, outra vez, uma coisa metálica. Correu alguns metros à frente para poder ver melhor.
Havia um homem agachado atrás das barracas, em meio às sombras. Havia algo na trincheira ao lado dele – podia ser um pequeno gerador. Com os olhos fixos no homem, Donald começou a correr naquela direção e percebeu que não era um gerador, mas um ar-condicionado e o que ele tinha visto brilhar era a parte de trás do aparelho. Também viu o que parecia ser uma caixa embaixo dele.
Uma caixa... ou um tambor. Donald começou a correr devagar. Gás num sistema de ar-condicionado teria efeito rápido e extremamente destrutivo. As patrulhas voltando ao acampamento estariam cansadas e pegariam no sono imediatamente. Jamais saberiam o que aconteceu. Passou a correr mais depressa. Quando se aproximou, viu que a parte de trás do ar-condicionado fora retirada. O negócio era um tambor e estava sendo erguido para o lado de cima do aparelho.
Donald correu o mais depressa possível.
– Parem esse homem! – gritou. – Alguém aí segure aquele homem, atrás do acampamento!
O homem olhou na direção dele, depois mergulhou mais fundo nas sombras.
– Saram sallyol – gritou em coreano. – Alguém me ajude! Não o deixem escapar!
Um farol foi aceso na torre sul e um outro veio do norte. O farol sul pegou Donald quase imediatamente e só um momento se passou até que a luz do norte o iluminasse também.
Os soldados que tinham acabado de assumir o turno deram a volta no acampamento. Donald acenou com os braços acima da cabeça.
– Mande todo mundo sair das barracas! Aquilo é gás... gás venenoso!
Os 12 homens estavam excitados e pareciam confusos. Muitos tiraram os rifles de assalto AKM dos ombros e alguns apontaram para Donald.
– Não! Eu não, caramba! Eu só estou querendo ajudar...
Os homens gritavam entre si. Donald não conseguia entender tudo o que diziam. E então ouviu um homem gritar que o general já estava vindo e que aquele homem tinha uma naifu.
A faca. Ainda estava segurando a faca.
– Não! – gritou Donald. – Essa faca não é minha! – Ergueu-a acima da cabeça para que eles pudessem ver e dobrou o punho, para fazê-la cair.
Dois tiros romperam a alvorada, o estrondo ecoando nas montanhas muito tempo depois que os passos pesados de Donald já haviam parado.
Setenta e Três
Quarta-feira, 7:53, Seul
Quase cinco horas depois de ter dado entrada na mesa de cirurgia, Kim Hwan acordou e se sentiu ligeiramente alerta. Olhou em volta, e o episódio ocorrido no sítio voltou à memória. Lembrou-se da viagem de volta... de Kim... da chegada ao hospital...
Virou-se para a esquerda. Logo atrás do soro intravenoso, viu a campainha pendurada num fio branco. Ergueu o braço esquerdo com o maior cuidado e apertou o botão vermelho.
Não foi uma enfermeira que entrou, mas sim Choi Hongtack, agente da divisão de segurança interna da KCIA. O jovem usava um elegante paletó preto, de três peças. Era um garoto brilhante, em ascensão, e o diretor Yung-Hoon o tinha no bolso. Não era uma pessoa em quem se pudesse confiar sem oferecer graves riscos para a carreira.
Hongtack pegou uma cadeira e se colocou ao lado da cama.
– Como se sente, sr. Hwan?
– Esfaqueado.
– E foi. Duas vezes. Teve ferimentos no pulmão direito e no intestino delgado, também no lado direito. Os cirurgiões conseguiram consertar o estrago.
– Onde está... a srta. Chong?
– Ela deixou o carro no estacionamento, roubou outro e desde então já trocou por um terceiro. Não há nenhuma queixa de roubo naquela área da cidade, assim não temos a menor ideia do que ela esteja dirigindo, nem para onde esteja indo.
– Ótimo – disse Hwan e sorriu.
Hongtack olhou-o com estranheza.
– Perdão?
– Eu disse... ótimo. Ela salvou a minha vida. E o homem... que me atacou?
– Era da Coreia do Sul. Estamos caçando as pessoas que acreditamos estarem por trás dele. Também da ativa, também sul-coreanos.
Hwan assentiu gravemente.
– O Cho, seu motorista, não voltou.
– Eu acho... que ele morreu. Vá até o sítio... na aldeia de Yanguu. É onde Kim morava.
Hongtack tirou um bloquinho do bolso de dentro do paletó.
– Aldeia de Yanguu – anotou. – Acha que ela foi para lá?
– Não. Não faço a menor ideia... para onde tenha ido.
Não era verdade, mas não disse isso a Hongtack. Ela iria para o Japão, onde estava o seu irmão, e Hwan torcia com todo o coração para que conseguisse. Mas sabia que isso não era suficiente e que a segurança dela tinha que vir em primeiro lugar... do mesmo modo como ela o tinha posto em segurança ao levá-lo ao hospital.
– Se ela for encontrada... não a prendam.
– Perdão?
– Deixem-na ir para onde quiser. – Hwan esticou o braço e agarrou a manga de Hongtack. – Você... entendeu? Não deve tirá-la do caminho.
Vendo o fogo mal escondido naqueles olhos de águia, Hwan não sabia o que mais incomodava Hongtack: se a ordem ou o fato de estar tocando o paletó dele.
– Eu... eu entendo, sr. Hwan. Mas se ela for encontrada, o senhor quer que a sigam.
– Não.
O pager de Hongtack bipou. Ele olhou para o número.
– Mas então... o que vou dizer ao diretor?
– Nada. – Hwan tirou a mão da manga e colocou na lapela dele. – Não... me engane nesse caso, Hongtack.
– Perfeitamente, sr. Hwan. Se agora o senhor me desculpar, tenho que ligar para o escritório.
– Lembre-se do que eu disse.
– Lembrarei.
No hall, Hongtack endireitou a manga do terno e retirou o pequeno celular do bolso.
– Sapinho de merda – murmurou, enquanto se dirigia a um canto perto da máquina de refrigerantes. Teclou o número que aparecera no pager, a sala do diretor Yung-Hoon.
– Como é que ele está? – perguntou Yung-Hoon. – Está sendo bem tratado?
Hongtack se virou para o corredor e protegeu a boca com a mão aberta.
– Está acordado e os médicos me disseram que vai se recuperar totalmente. Senhor... ele quer proteger a espiã.
– Como é que é?
– Quer proteger a espiã. Ele me disse que não quer que a prendam.
– Deixe-me falar com ele...
– Está dormindo, senhor.
– Então ele espera que nós a deixemos ir para o norte, depois de ver vários dos nossos agentes?
– Aparentemente, sim – disse Hongtack, os olhos de águia se estreitando ainda mais. – É exatamente o que deseja.
– E ele disse por quê?
– Não. Só disse para que não a prendessem e que eu não devia enganá-lo nesse caso.
– Entendo. Mas, infelizmente, isso criaria um problema. O carro que ela roubou foi encontrado numa concessionária BMW e todo mundo está atrás dela. A polícia municipal e a rodoviária também se juntaram na busca e eu mandei que helicópteros vigiassem as estradas que partem da cidade. Seria impossível mandar que todos voltassem.
– Muito bem. E o que eu devo dizer ao sr. Hwan, se ele perguntar?
– A verdade. Tenho certeza de que vai compreender quando estiver pensando melhor.
– Lógico – disse Hongtack.
– Telefone de novo daqui a uma hora. Quero saber como ele está progredindo.
– Vou ligar – disse Hongtack e depois voltou para a cadeira do lado de fora do quarto de Hwan, com um sorriso em seu rosto asséptico.
Setenta e Quatro
Quarta-feira, 7:59, cordilheira do Diamante
Rodgers e Squires se esgueiraram até onde Bass Moore se deitara. Passou o binóculo ao tenente-coronel.
– É a unidade que guarda o perímetro leste da localidade dos Nodongs – disse Squires. – Deviam ser só cinco.
Rodgers se esticou para olhar. A descida do morro era bem íngreme, um terreno rochoso de aproximadamente oitocentos metros até o platô onde os soldados estavam postados. Com exceção de umas poucas pedras grandes, não havia nada que pudesse ser usado de cobertura. No platô ao pé do morro ficavam dois canhões antiaéreos móveis, com pentes de dois mil tiros empilhados cuidadosamente à esquerda de cada arma. Mais além, no vale lá embaixo, o sol nascente iluminava os Nodongs sob uma camuflagem de folhas.
– Ao que parece, vamos ter que descer em grupos de dois – disse Squires. – Moore, volte lá e mande os homens se postarem em duplas. Você e Puckett vão primeiro. Para aquela pedra com forma de chiclete uns sessenta metros à esquerda. Está vendo?
– Sim, senhor.
– Depois, vão direto para aquele monte lá embaixo, à direita. Quando chegarem lá, vão sentindo o caminho que nós vamos atrás. Ao chegarmos no lugar mais baixo possível, o general e eu abrimos fogo da retaguarda e damos ao inimigo uma chance de se render. Eles não vão se render e quando se aproximarem de nós, os cercamos pelos lados. Darei instruções a cada dupla, à medida que eles descerem.
Moore bateu continência e depois subiu o morro para buscar o sargento.
Rodgers continuou a estudar o terreno.
– E se os homens decidirem se entregar?
– Nós os desarmamos e deixamos cinco homens nossos para trás. Mas eles não vão se render.
– É mais provável que você tenha razão – disse Rodgers.
– Eles vão querer lutar. E quando os soldados nos mísseis ouvirem os tiros, vão tirar homens dos outros postos e mandá-los atrás de nós.
– A essa altura, já teremos caído fora. Estou distribuindo os homens em duplas exatamente para espalhar o inimigo o máximo possível. Vamos nos encontrar na tenda do comandante lá embaixo e dar um jeito de destruir os passarinhos. Só espero que não os ponham para voar antes da hora.
Rodgers pegou o binóculo e olhou para a tenda do comandante.
– Sabe de uma coisa? Tem alguma coisa errada lá.
– Por exemplo?
– Ninguém entra e sai da tenda de comando. Nem mesmo o próprio comandante.
– Já está tudo pronto. Talvez ele só esteja tomando o café da manhã.
– Não sei, não. O Hood disse que dois homens saíram de uma balsa e penetraram na Coreia do Norte. Se fosse uma conspiração contra o norte, o comandante não os teria deixado entrar calmamente, assumir o controle e redirecionar os mísseis.
– Podem ter entrado com ordens falsas.
– Aqui, não. Eles trabalham com um sistema de confirmação dupla. Se o comandante receber novas ordens, entra em contato com Pyongyang para confirmá-las.
– Talvez tenham alguém plantado nos altos escalões.
– Nesse caso, para que mandar dois homens até aqui? Por que não mudar simplesmente as ordens no quartel-general?
Squires assentiu quando Moore e Puckett chegaram.
– Compreendo.
Rodgers continuou a observar a tenda do comandante. Estava quieta, toda fechada.
– Estou com um pressentimento sobre esse caso, Charlie... Você me deixa pegar dois homens e ir até lá?
– Fazer o quê?
– Queria ir lá e escutar. Para ver se a pessoa que está no comando é realmente quem deveria estar.
Squires balançou a cabeça negativamente.
– Estaria perdendo tempo, senhor. Levaria pelo menos uma hora para chegar até lá.
– Eu sei, e a missão é sua. Mas estamos enfrentando um número de homens que é o dobro do que esperávamos e vai haver muito tiro sem nenhuma garantia.
Squires mordeu o lábio de cima.
– Eu sempre quis ter a chance de dizer “não” a um general e agora que eu tenho... não vou dizer. Tudo bem. Boa sorte lá embaixo, senhor.
– Obrigado. Entrarei em contato pelo telefone de campo quando puder.
Rodgers e Moore levaram alguns minutos traçando uma rota que pudessem tomar para se desviar das plataformas de artilharia, enquanto Puckett tirava a bateria do rádio e a deixava com Squires.
– Ah, e Charlie – disse Rodgers, antes de sair – , não ligue para o Centro, a não ser que alguma coisa aconteça. Você sabe como o Hood se sente com alguns dos meus planos.
– Sei, sim, senhor – sorriu Squires. – Como um cachorro roendo osso.
– É isso aí.
Com o sol bem acima do horizonte e jogando longas sombras sobre as pedras, os três homens começaram a descida.
Setenta e Cinco
Quarta-feira, 8:00, lado norte da Zona de Armistício
O primeiro tiro acertou Donald na perna esquerda e o jogou no chão. O segundo acertou o alto do ombro direito enquanto ele caía, perfurando-lhe o tronco diagonalmente. Assim que tocou o chão, empurrou o braço esquerdo, tentando se levantar. Quando viu que era impossível, cravou a mão no chão, tentando se arrastar para a frente. A faca caiu da mão direita inerte, enquanto rastejava para a frente, poucos centímetros de cada vez.
Os soldados se aproximaram correndo.
– Ar... – pediu Donald em coreano. – Ar...
Donald parou de se mexer e caiu de lado. Sentiu uma leve sensação de algo queimando na perna esquerda, com ondas de dor que iam até a cintura. Acima dela, não sentia nada.
Sabia que levara um tiro e isso estava no fundo de sua mente. Tentou erguer a cabeça e olhar em torno. Tentou erguer o braço.
– O ar-con... dicio... – balbuciou, para depois perceber que provavelmente estava queimando o pouco de oxigênio que lhe restava. Ninguém estava ouvindo. Ou talvez não estivesse falando alto o suficiente.
Um médico apareceu correndo e ajoelhou-se ao lado de Donald. Examinou a garganta dele para ter certeza de que estava desimpedida, depois checou o pulso e examinou os olhos.
Donald olhou o homem de óculos.
– O acampamento... – falou. – Escuta... o ar-condicionado...
– Descanse – disse o médico. Abriu o paletó de Donald e desabotoou a camisa. Usou uma gaze para limpar o sangue e soltou uma praga quando viu os ferimentos onde a bala entrara, no ombro, e onde saíra, à esquerda do umbigo.
Donald conseguiu colocar o cotovelo esquerdo debaixo do corpo e se levantar.
– Fica quieto! – ordenou o médico.
– O senhor... não... entende! Gás... venenoso... no acampamento...
O médico parou e olhou para Donald com curiosidade.
– No ar... con... dicio...
– O ar-condicionado? Tem alguém tentando envenenar o pessoal no acampamento? – O rosto do médico foi tomado de compreensão e tristeza simultaneamente. – E o senhor estava querendo impedi-los?
Donald assentiu fracamente, depois caiu para trás, lutando para respirar. O médico passou a informação aos soldados à sua volta, depois voltou a cuidar do paciente.
– Pobre homem – disse o médico. – Eu sinto muito. Muito mesmo.
Atrás de si, Donald pôde ouvir os gritos dos homens correndo na direção das barracas. Tentou falar:
– O que...?
– O que está acontecendo? – perguntou o médico ao assistente.
– Os soldados estão saindo das barracas, senhor.
– Ouviu? – perguntou o médico ao americano.
Donald escutou, mas não conseguiu mexer com a cabeça. Piscou devagar e olhou para o céu atrás do médico, cada vez mais azul.
– Não desista – falou o doutor, enquanto pedia a maca. – Vou levar você para um hospital.
O peito de Donald mal se mexia.
– O que está acontecendo agora? – perguntou o médico, enquanto massageava o peito do americano.
O assistente voltou.
– Os soldados estão em volta do ar-condicionado. Agora estão verificando as outras barracas. E agora as luzes se apagaram... Parece que desligaram a eletricidade.
– O senhor é um herói – disse o médico a Donald.
Eu?, pensou ele, antes que o céu azul ficasse cinza e, em seguida, preto.
Houve tiros, mas o médico não prestou atenção, enquanto apertava a boca contra a de Donald, fechava-lhe o nariz e aplicava quatro rápidos sopros.
Procurou sentir o pulso da carótida e não encontrou nada. Repetiu o procedimento. Novamente sem pulso.
Saindo de cima do peito de Donald, o médico se ajoelhou ao lado dele e pôs o dedo médio no lugar onde o esterno encontra o fim da caixa toráxica. Pôs então a parte posterior da mão esquerda na parte de baixo do esterno, ao lado do indicador e apertou, contando oitenta pulsações por minuto. O assistente segurava o punho de Donald, tentando sentir o pulso.
Cinco minutos depois, o médico se sentou nos calcanhares. A maca estava a seu lado e ele ajudou o assistente a colocar o corpo do americano em cima dela. Dois soldados o levaram, ignorando os da Coreia do Sul, que só olhavam.
– Ele tem algum tipo de identificação?
– Não verifiquei.
– Quem quer que seja, merece uma homenagem. Alguém armou tambores de gás, por uma válvula, no sistema de ar-condicionado de quatro barracas do lado leste. Pegamos o homem no momento que estava prestes a acionar o mecanismo.
– Um sozinho?
– É. Provavelmente não estava só, embora não vá nos dizer nada.
– Ele se suicidou?
– Não foi bem isso. Quando nos aproximamos, ele tentou ligar o gás. Fomos obrigados a atirar. – O oficial olhou o relógio. – É melhor eu informar o general Hong-koo. Ele está prestes a se encontrar com o embaixador americano e isso pode mudar as coisas.
Escondido atrás de um tronco de carvalho grande, Lee olhou a pequena comitiva de três jipes se aproximar da entrada norte da sala de reuniões. Tinham vindo do extremo norte da base, onde ficava o QG do general e iam estacionar ao lado da porta da sala. Lá esperariam pela chegada do pessoal da Coreia do Sul e, enquanto isso, não sairiam dali. Pelo menos, isso era o provável.
Mas, se Lee tivesse visto o que pensara ter visto – Donald alvejado quando corria em direção às barracas – então, não viria comitiva alguma da Coreia do Sul. Aparentemente, também não haveria o ataque a gás contra o acampamento. Os outros tiros, a falta de agitação com o que deveria ter acontecido – estava claro que o plano tinha falhado feio.
Suas mãos secas seguravam a pistola com firmeza. Se tivesse disparado contra o Donald, em vez de usar a faca... Teria chamado atenção. Por outro lado, poderia ter fugido.
Não interessa. O destino dera uma outra chance, quase tão boa quanto a primeira.
Os carros pararam e seus olhos pousaram no general Hong-koo, um homem pequeno com uma boca tão grande quanto uma cobra e, ao que sabia, uma disposição à altura. O general não iria esperar mais do que vinte minutos antes de entrar. Se ninguém aparecesse, diria ao mundo que a Coreia do Norte queria a paz, mas o sul, não, e voltaria para o QG.
Era esse o plano, com toda a certeza, pensou de novo. Mas Lee não estava disposto a dar aquela chance.
Uns 150 metros o separavam da comitiva de Hong-koo. O general estava sentado ereto no banco de trás do jipe do meio, um alvo ruim naquele momento, mas não por muito tempo. Tão logo se levantasse do jipe, Lee correria até ele e atiraria, assim como atiraria em outros seis homens que pudesse atingir antes de correr de volta para o túnel.
No entanto, estava preparado para morrer e sair dali como um líder, ou como um mártir. Todos do grupo tinham se mostrado prontos a dar suas vidas pela causa, pois mesmo se a bomba, o assassinato e o ataque de Sun contra Tóquio não ensejassem uma guerra, os atos seriam um estímulo aos corações dos que se opunham à reunificação.
O motorista de Hong-koo olhou para o relógio, virou-se e disse alguma coisa ao general, que assentiu.
Estava quase na hora... hora dos Estados Unidos serem expulsos da Coreia do Sul, de desabrochar o patriotismo e de nascer um novo militarismo, que fará da Coreia do Sul o país mais poderoso, próspero e temido da região.
Setenta e Seis
Quarta-feira, 8:02, estrada para Yangyang
Kim enterrara quase quatro milhões de wons num cemitério na zona leste da cidade – equivalentes a, aproximadamente, cinco mil dólares. Enterrara o dinheiro ajoelhada nas lápides, sentada nos bancos ou descansando sob as árvores. Colocava as notas e moedas em pequenos buracos e embaixo de raízes e pedras. Ainda estava tudo lá. As pessoas não iam aos cemitérios procurar tesouros escondidos.
Demorou quase três horas até que ela recuperasse todo o dinheiro no escuro. Depois disso, encheu o tanque de gasolina e seguiu o rio Pukangang rumo ao lago Soyang, no nordeste. Ali descansou, folheando sua agenda à procura de alguém que lhe vendesse um passaporte e uma passagem para o Japão.
No carro, Kim manteve o rádio ligado na frequência que Hwan usara para se comunicar com a KCIA. Queria ouvir se diziam alguma coisa sobre ela e, por algum tempo, deu a impressão de que não tinham a menor ideia de seu paradeiro, ou mesmo do tipo de carro que estava dirigindo. Então, poucos minutos antes dela sair, a KCIA encontrou o Tercei na revendedora BMW Estavam investigando que carro ela teria roubado quando voltou à estrada em direção ao mar.
A autoestrada de duas pistas passava por uma bela paisagem rural, mas estava deserta e Kim começou a ficar preocupada de não encontrar um outro carro. Sua última esperança era chegar ao Parque Nacional de Sorak-san antes que as autoridades a localizassem. Geralmente, lá havia um grande número de turistas e um estacionamento bem amplo logo ao norte do Templo de Paektam-sa, no lado oeste do parque. Poderia ir pelo desfiladeiro de Taesungnyong e partiu para aquela direção.
Kim se arrependeu de ter parado para descansar no lago. Fora uma ideia estúpida, mas o dia parecia não ter fim... e ainda havia a culpa que sentia pelo homem que matara. Na hora, fora incrivelmente fácil: uma boa pessoa estava em perigo e ela atirara no homem que a estava atacando. Só depois que fez isso é que se lembrou que nada sabia do assaltante, ou mesmo se tinha agido a tempo, se o homem teria se virado contra ela... ou a ajudado a fugir.
Tudo o que importava é que matara alguém. A espiã que não era espiã, a norte-coreana que tinha sido mandada para cá como uma maldição por amar o irmão, tinha agora cometido o pecado capital. Sempre se lembraria do rosto dele na hora em que o acertou, o susto e a dor iluminados pelo fogo de um disparo, o corpo se despedaçando – bem diferente dos filmes, onde se dobravam e se curvavam...
Uma voz bem nítida fez-se ouvir pelo rádio acomodado no lugar do passageiro.
– Helicóptero sete, este é o sargento Eui-soon. Câmbio.
– Helicóptero sete na escuta. Câmbio.
– O BMW branco foi visto reabastecendo perto da estação do estádio de Tongdaemum, há cerca de uma hora e meia. Tomou o rumo leste e a essa altura já deve ter passado por Inje. É a sua área. Câmbio.
– Vamos conferir e voltamos a chamar. Câmbio desligo.
Kim rogou uma praga. Acabara de passar por Inje, no extremo nordeste do lago. Em poucos minutos a alcançariam. A polícia sul-coreana adorava mandar parar os carros, por isso não se atrevia a ultrapassar a velocidade – certamente não sem os documentos e com milhões de wons enfiados na bolsa do rádio, ali no chão. Manteve-se abaixo do limite de velocidade, procurando desesperadamente um carro estacionado. Não encontrou nenhum e finalmente chegou ao parque, com os picos recortados das montanhas e as portentosas cataratas perfeitamente visíveis à distância. A patrulha do parque não era tão difícil de driblar quanto a polícia, e ela estava prestes a acelerar para o estacionamento quando ouviu o ruído distante das hélices de um helicóptero.
Apertou o acelerador até o chão, procurando algum lugar para sair da estrada. Decidira abandonar o carro e seguir a pé quando o helicóptero passou por cima dela e deu meia-volta.
Ela freou com toda a força.
O helicóptero estava a uns duzentos pés de altitude, de frente para ela, com dois homens apontando em sua direção. Ouviu um silvo agudo, quando o alto-falante foi ligado.
– O pessoal de terra já está a caminho – disse um dos homens.
– Suas ordens são de ficar onde está.
– E se eu não ficar? – falou para si mesma, ofegante. – O que que eles vão fazer?
Estudou a estrada à sua frente. Depois de uns três quilômetros, começava uma série de curvas sinuosas nas montanhas e ia ser difícil para os carros ou o helicóptero a perseguirem.
Dane-se, pensou, enquanto apertava o acelerador até o fundo. O BMW soltou um grito abaixo do helicóptero e partiu na direção das montanhas azuis e cinza à sua frente.
Setenta e Sete
Quarta-feira, 18:05, Centro de Operações
Hood estava em sua sala com Ann Farris e Lowell Coffey, discutindo como lidar com a notícia da missão da equipe de ataque, caso os homens fossem capturados ou mortos. A Casa Branca desmentiria a operação, como o presidente já dissera, e o procedimento padrão era que o Centro fizesse o mesmo. Entretanto, Ann achava que poderiam ganhar alguns pontos em matéria de relações públicas se mostrassem ao mundo como haviam se preocupado com a segurança do Japão. Hood concordou que ela tinha razão, mesmo assim não se sentia inclinado a usar aquela tática.
Quando Bugs falou que o general Schneider estava chamando com uma notícia urgente de Panmunjom, a discussão se acabou abruptamente.
– Hood falando.
– Senhor diretor – disse o general Schneider – , lamento informar que o seu homem Gregory Donald parece ter sido morto a tiros pelos norte-coreanos no lado deles da fronteira, há alguns minutos.
Hood ficou pálido.
– General, foram eles que o convidaram a atravessar...
– Esse não era o encontro. Ele não estava na sala de reuniões.
– Então, onde é que estava?
– Correndo na direção do acampamento, com um canivete.
– O Gregory? Tem certeza?
– É isso o que a sentinela da torre está escrevendo no relatório. E que gritava em coreano sobre o gás venenoso.
– Deus do Céu! – Hood fechou os olhos. – Então foi isso. O Gregory... meu Deus!... por que ele não deixou isso por conta dos militares?
– Paul – disse Ann – , o que aconteceu?
– Gregory Donald está morto. Estava tentando impedir o atentado a gás. – Voltou a Schneider. – General, o major Lee deve ter atravessado para a Coreia do Norte com o gás... e o Gregory provavelmente o estava perseguindo.
– Foi isso o que nós pensamos, mas foi uma coisa bem estúpida de se fazer. Ele devia saber que aqueles caras iam matá-lo na mesma hora.
Não era uma coisa estúpida, como Hood bem sabia. Aquele era o jeito do Donald.
– Em que pé está a situação?
– Nossos vigias dizem que, ao que parece, os soldados atiraram em alguém que estava tentando despejar o tabun nos alojamentos. Como acabei de dizer ao secretário Colon, estão correndo de um lado para o outro como galinhas sem cabeça. Uma sentinela nossa está de olho no general Hong-koo. Ele está sentado num jipe, do lado de fora da sala de reuniões... esperando Deus sabe o quê. Já deve saber que o Donald não vem.
– Talvez ele não saiba que foi o Donald que mataram.
As palavras pareceram tão equivocadas. Hood olhou para Ann atrás de algum tipo de apoio, mas só viu a tristeza que sentia.
– Ele já vai descobrir. O problema agora é o seguinte. O Pentágono contatou Pyongyang e eles não acreditam que o bando de Lee tenha agido sozinho. Acham que tudo isso é parte de um plano arquitetado em Seul. Não se pode dialogar com esses bastardos.
– E o que estamos fazendo, em contrapartida?
– O mesmo que eles. O general Norbom está mandando tudo e todo mundo que ele tem. Ordens diretas do presidente. Se alguém espirrar aqui, vai disparar uma guerra.
Schneider então pediu desculpas e deixou Hood triste e aborrecido ao desligar o telefone. Sentia-se como se tivesse feito uma excelente temporada de futebol, só perdendo o campeonato no último jogo. Aquela altura, a única coisa pior que podia acontecer seria Mike Rodgers e a equipe de ataque fazerem algo que realmente precipitasse a guerra. Por um instante, pensou em chamá-los de volta, mas tinha consciência de que Rodgers não faria nada abruptamente. E ainda havia o fato de os mísseis estarem apontados para o Japão. Se ele fosse atingido, com guerra ou sem guerra, não haveria jeito de se interromper o rearmamento da região. A China e as duas Coreias reforçariam as suas forças armadas, dando início a uma corrida armamentista tão ruim quanto a Guerra Fria nos anos 60.
Depois de colocar Ann e Coffey a par da situação, Hood pediu que repassassem as informações aos demais chefes de departamento do Centro. Quando saíram, afundou a cabeça entre as mãos...
E foi aí que teve a ideia. Pyongyang não vai acreditar em ninguém do sul sobre esse assunto, mas... e alguém do norte?
Tocou o interfone do assistente.
– Bugs. O Kim Hwan está no Hospital da Universidade Nacional em Seul. Se ele não estiver sendo operado e estiver acordado, quero falar com ele.
– Sim, senhor. Numa linha segura?
– Não dá tempo de esperar uma. E Bugs... não deixe que ninguém da KCIA atrapalhe. Se necessário, fale com o diretor Yung-Hoon.
Enquanto esperava Bugs, ligou para Herbert.
– Bob... quero que prepare uma chamada para aquela frequência da aldeia de Yanguu.
– Para lá... – repetiu.
– Isso mesmo. Vamos montar uma rede telefônica a fim de evitar uma guerra.
Setenta e Oito
Quarta-feira, 8:10, Seul
Kim Hwan estava cochilando quando Choi Hongtack tocou-lhe o ombro.
– Sr. Hwan?
Hwan abriu os olhos devagar.
– Sim... o que é?
– Lamento incomodá-lo, mas é uma ligação de um tal de Paul Hood, de Washington.
Hongtack segurava o telefone em sua direção. Com considerável esforço, Hwan esticou o braço e pegou. Colocou-o no travesseiro do lado do ouvido e virou a cabeça para falar.
– Alô, Paul – disse, fracamente.
– Kim, como está se sentindo?
– Podia ser pior.
– Ótimo. Kim, eu tenho pouco tempo, portanto vou direto ao assunto. Descobrimos o homem por trás do atentado, um militar da Coreia do Sul e... lamento dizer isso, mas... Gregory Donald foi morto ao perseguir um dos cúmplices dele.
Hwan sentiu como se tivesse levado outra facada. Não conseguia respirar e seu peito se incendiava.
– Eu queria muito ter dito isto de maneira mais amena – disse Hood – ou pelo menos esperado um pouco. Mas os norte-coreanos não acreditam que o bando esteja agindo sozinho e estão prontos a entrar em guerra por causa disso. Está me acompanhando?
– Estou – disse Hwan, quase sufocado.
– Nós interceptamos uma mensagem de Seul Oh-Miyo, antes. Ainda dá para você falar com ela?
– Eu... não tenho certeza.
– Bem, Kim, nós precisamos de alguém de confiança da Coreia do Norte para dizer a eles que isso não foi um ato sancionado pelo governo sul-coreano. Temos a frequência de rádio que ela usou e acho que podemos utilizá-la. Se ela deixou ligado, você falaria com ela? Pediria que ela ligasse para a Coreia do Norte e tentasse convencê-los?
– Claro – disse Hwan. As lágrimas vertiam de seu rosto, e ele fez sinal a Hongtack para ajudá-lo a se sentar. – Vou fazer o que puder.
– Muito bem – disse Hood. – Espere um pouco até eu ter certeza de que deste lado está tudo pronto.
Enquanto esperou, Hwan ignorou os olhares inquisidores de Hongtack. Mesmo que evitassem uma guerra, que tragédia monstruosa já havia sido aquele dia. E para quê? Para o tipo de engrenagens políticas e militares que o Gregory sempre detestara.
O diálogo, dizia ele. As artes e o diálogo são as únicas coisas que nos diferem dos animais. Aprecie-os e utilize-os sempre!
Era tudo tão injusto. E o pior era que o homem que ele procuraria para um apoio não existia mais.
– Kim?
Hwan apertou o fone ao ouvido e lutou contra os efeitos remanescentes da anestesia que ameaçavam levá-lo de volta ao sono.
– Estou aqui, Paul.
– Kim, temos um problema...
Por cima dos ruídos de estática, uma voz desesperada interrompeu Hood.
– Estão tentando me matar!
Hwan ficou imediatamente alerta ao reconhecer a voz de Chong.
– Kim, aqui é Hwan. Está me ouvindo?
– Es-tou...
– Quem está tentando te matar?
– Um helicóptero... e duas motos estão a caminho. Eu parei numa montanha. Posso vê-los lá embaixo.
Hwan olhou fixamente para Hongtack.
– É gente nossa?
– Eu não sei. O diretor Yung-Hoon disse que muitas agências estão envolvidas para que...
– Estou me lixando se o próprio Deus estiver envolvido. Suspenda tudo.
– Senhor...
– Hongtack, pegue outro telefone e diga ao diretor Yung-Hoon que eu assumo toda a responsabilidade pela srta. Chong. Comunique também que, a partir de agora, ou talvez de amanhã, você passa a integrar a equipe americana de escuta em McMurdo.
Após um instante de hesitação, onde pesou sua dignidade frente a uma temporada na Antártida, Hongtack deixou o quarto.
Hwan voltou ao telefone.
– Já tomei as providências, Kim. Onde você está?
– Nas montanhas do Parque Nacional de Sorak-san. Estacionei debaixo de um platô onde é impossível o helicóptero descer.
– Perfeito. Você deve procurar a casa do meu tio Zon Pak, em Yangyang. É um pescador. Ninguém gosta dele, mas todo mundo o conhece. Vou telefonar de antemão e ele vai levar você com toda a segurança aonde quiser. Agora diga: o sr. Hood explicou o nosso problema?
– Explicou. Ele falou do major Lee.
– Você pode ajudar? Pretende ajudar?
– Mas claro. Fique na linha que eu vou me comunicar por rádio com Pyongyang.
– É possível conectar os seus fones de ouvido de modo que possa me ouvir e ao dr. Hood, sem eles nos ouvirem?
Kim disse que sim, e ele ouviu quando a ligação do hospital-ao-Centro-de-Operações-a-Sorak-san ganhou mais um integrante: o Capitão Ahan II, na “Base”, que Hwan sabia ser a séde da Agência de Espionagem norte-coreana, situada no subsolo do hotel Haebangsang, na margem direita do rio Taedong.
– Base – disse Kim – , tenho conhecimento de provas irrefutáveis de que uma célula de militares sul-coreanos, e não, repito, não o governo ou o Exército da Coreia do Sul estão por trás do atentado de hoje ou da tentativa de envenenamento do acampamento. O major Lee, o militar com o tapa-olho, é que está por trás de toda a operação.
Houve um instante de silêncio, e então:
– Seul Oh-Miyo, que homem com o tapa-olho é esse?
– O homem que estava acionando o gás venenoso.
– Não havia nenhum homem assim.
Paul falou:
– Srta. Chong, por favor peça a ele que espere. Vou tentar achar o major Lee. E, se eu encontrar, eles vão ter que agir muito depressa para agarrá-lo.
Setenta e Nove
Quarta-feira, 18:17, Centro de Operações
Paul Hood segurou Kim Hwan na linha e ligou para Bob Herbert.
– Bob, nós temos uma foto do major Lee?
– Está no dossiê...
– Mande para o DVN, rápido. Depois vem aqui com Lowell Coffey, McCaskey e Mackall.
Ligou para Viens no DVN.
– Steve, você vai receber uma foto do Bob Herbert. O homem talvez ainda esteja no lado norte da Zona de Armistício, em Panmunjom. É preciso localizá-lo. Verifique primeiro em volta da sala de reuniões. Quero dois satélites nisso.
– Foi o secretário Colon que autorizou o “segundo olho”, certo?
– Ele autorizaria, se soubesse – respondeu Hood, secamente.
– Foi o que eu pensei – disse Viens. – Está na hora de a onça beber água. O elemento vai estar sozinho?
– Provavelmente. E vestido com um uniforme sul-coreano. Quero ver à medida que as fotografias forem sendo recebidas.
– Espera um momento.
Hood ficou ouvindo Viens mandar uma segunda câmera de satélite apontar para a área e pediu para ver de uma altura relativa de vinte e cinco pés. Feito isso, alimentou o computador do satélite com uma foto do major Lee. O satélite rastrearia a região procurando alguém com aquelas feições e o mostraria com um contorno azul.
O teto da sala de reuniões apareceu. Ele não estava lá, senão os vigilantes dos dois lados já teriam visto. Então, 4,4 segundos mais tarde, cruzando informações com o primeiro satélite, o segundo enviou uma fotografia da área em frente ao prédio: a pequena caravana e o jipe com o que provavelmente era o general Hong-koo.
Bob Herbert entrou com a cadeira de rodas, seguido de Martha, Coffey, McCaskey e Ann Farris. Hood pressentira que ela viria, nem tanto para acompanhar o andamento da crise, mas para cuidar dele. Aquele sentimento maternal o deixava ao mesmo tempo sem jeito e estranhamente feliz, mas no momento deixou o desconforto para lá. Gostara da sensação de ter a mão dela pousada em seu ombro.
– Darrell – disse Hood – , por que o Hong-koo só fica ali sentado? Ele já deve saber o que aconteceu.
– Pouco importa. – Foi Martha quem respondeu. Darrell só pôde fuzilá-la com o olhar. – Os norte-coreanos continuariam com uma festa, mesmo que o aniversariante estivesse morto. Eles gostam de se mostrar irredutíveis. Resquícios da ideologia que Kim II Sung chamou de juche... autoconfiança.
Ann falou:
– Ele provavelmente vai usar o fórum para dar algum tipo de declaração política.
– Como foram atacados e demonstraram um enorme autocontrole para não responder – acrescentou Martha.
Darrell jogou as mãos para o alto e se sentou.
Hood olhou atentamente as imagens que continuavam a chegar, respectivamente, no canto superior esquerdo e inferior direito do computador. A chegada de cada uma delas era marcada por rotações de um segundo, enquanto o disco rígido guardava as imagens. Um número de código no canto inferior direito de cada foto (o número sequencial, seguido de “1T”, de “primeira tomada”) permitiria que fossem recuperadas imediatamente. O computador também podia melhorar as imagens dando mais brilho, contraste e até modificando o ângulo de vertical para frontal, extrapolando as informações da foto.
– Segura a 17-1T – gritou Hood, dando um pulo na cadeira.
– Aquele cara sozinho de pé, atrás da árvore, a uns cento e poucos metros da comitiva...
Bob e Darrell deram a volta para olhar.
– A cara dele está encoberta pelas folhas – disse Viens. – Deixa eu mudar um pouco a posição da câmera.
Um pouco queria dizer alguns milésimos de centímetro, aumentados pela distância que o satélite estava da Terra – o que daria um novo ângulo com uma diferença de trinta centímetros ou mais.
A nova foto chegou e imediatamente começou a ser contornada com uma linha azul bem clara.
– Canastra! – gritou Viens. – Estou combinando com o outro satélite.
– Não. Eu quero uma visão geral da região. De uma altura de uns quatrocentos metros.
– Certo.
Hood tirou o segundo telefone do gancho e olhou para a segunda foto, que mostrava Lee mudando ligeiramente a posição do corpo, em direção ao automóvel do general. Hood se viu acometido da mesma sensação lúgubre que sempre sentia ao ver o filme de Zapruder sobre o assassinato de Kennedy. O fato estava acontecendo e ele era incapaz de fazer alguma coisa.
A foto seguinte de Lee apareceu. Ele saía claramente de trás da árvore.
– Srta. Chong, está me ouvindo?
– Estou!
– Diga aos seus chefes que o traidor está saindo de trás de um carvalho a uns 130, 140 metros ao norte da área de reunião. Acreditamos que ele pretenda atacar o general Hong-koo. Diga à sua gente para impedir o major Lee com qualquer meio que for necessário.
– Entendido – falou ela e transmitiu a mensagem.
Enquanto fazia isso, Hood pediu a Bugs que pusesse o general Schneider na linha. Enquanto o assistente corria para fazer a ligação, Hood continuava vendo Lee sair de trás do carvalho, com uma arma na mão. Os homens no quadro abaixo olhavam para o general Hong-koo, de pé no jipe, pronto para entrar na sala. Na imagem geral, Hood viu toda a região da sala de reuniões, com as zonas imediatas ao norte e ao sul da Zona de Armistício. O que queria ver estava lá, no lado sul, menos de trezentos metros a sudoeste de Lee.
– O general Schneider na linha! – disse Bugs. Conectou Hood com o telefone de campo do general, que acompanha o movimento das tropas.
– Hood – bramiu o general – , eu nem estaria conversando com você, se não fosse o chefe da crise...
– O major Lee está atrás da sala de reuniões, do lado norte.
– O quê?
Hood falou com urgência:
– Era o que você devia estar vendo das torres a sudoeste da sala. Você não tem um atirador lá em cima?
– Tenho, mas...
– Então ponha-o em ação! Rápido!
– Quer que eu dispare contra um oficial nosso... e contra a fronteira da Coreia do Norte?
– Não é isso o que o senhor sempre quis? O Lee está armado e vai matar Hong-koo. Tem que impedi-lo agora ou, daqui a um minuto, vai estar cheio de cadáveres até o nariz!
– E o meu homem na torre? Eles vão revidar...
– Espero que não. Os meus homens estão falando com eles agora.
– ‘Espero que não...’ – rosnou Schneider. – Cavalheiro, eu vou dar a ordem, mas a responsabilidade é inteiramente sua.
Schneider desligou e Hood pediu a Viens que mantivesse um satélite em Lee e outro na torre de vigilância.
A segunda imagem aproximou mais e mostrou um soldado, dos dois que estavam na torre, pegando o telefone, enquanto o outro olhava pelo binóculo.
A imagem de cima mostrava Lee se aproximando rapidamente do general Hong-koo.
A de baixo mostrava o soldado abaixando o binóculo.
Lee estava mais perto agora – tão perto que Hong-koo aparecia na mesma foto. Descia do jipe pelo lado do passageiro, com os homens formando um semicírculo à sua volta, uma espécie de guarda de honra. Repórteres e fotógrafos dos dois lados foram afastados.
O soldado na torre apanhou o rifle.
Lee levantou sua arma.
O soldado pôs a coronha do Colt Ml6 no ombro.
O peito de Hood parecia estar pegando fogo e a boca ardia de tão seca. Um segundo a menos, uma palavra a mais poderiam jogar toda a península numa guerra...
Flashes fotográficos dispararam quando a arma de Lee foi acionada. O coração de Hood subiu à garganta quando o soldado na torre pôs o rifle em posição de tiro. Demorou uma eternidade até que as próximas fotos chegassem.
Lee virara o rosto, provavelmente devido aos flashes. Hong-koo caía para trás com o que parecia ser uma mancha na parte superior do braço direito.
Saiu fumaça do Ml6.
Curiosamente, Hood sentiu voltar seu tempo de infância, quando se escondeu calado e quieto no armário de seus pais, de tão denso que era o silêncio naquela sala.
A próxima foto do lado norte-coreano mostrava o general Hong-koo deitado e segurando o braço. Ali perto, Lee estava parado, com fumaça saindo do cano da pistola... e a cabeça totalmente invisível atrás de uma nuvem de sangue.
– Conseguiram – disse Herbert, brandindo os punhos.
McCaskey deu um tapinha nas costas de Hood.
Na foto seguinte, Lee aparecia caindo e Hong-koo se levantando. No sul, os homens na torre se abaixavam.
– Sr. Hood? – disse Kim Chong. – Transmiti sua mensagem e eles estão passando para Panmunjom.
– Você acha que acreditaram?
– É claro. Sou uma espiã e não um político.
Hood se levantou e Ann veio lhe dar um abraço.
– Você conseguiu, Paul.
Coffey olhava tudo tristemente.
– Perfeitamente. Matamos um militar sul-coreano. Isso vai dar o que falar.
– Ele era doido – disse Herbert. – Foi como matar um cão raivoso.
– Que pode ter uma família. Cães raivosos não têm direitos. Soldados e parentes têm.
Bugs interrompeu com uma ligação do general Schneider. Hood lhe disse para tentar contato com Mike Rodgers. Depois, sentou-se na ponta da mesa e atendeu ao telefone.
– Sim, general?
– Parece que dessa você escapou. Não houve tiroteio... Os norte-coreanos parecem estar esperando.
– Você pode ver o general Hong-koo?
– Não – disse Schneider. – Os meus rapazes lá em cima ainda estão escondidos.
Hood olhou para o monitor.
– Bem, o general está sentado em cima do jipe, apertando um lenço ou um pedaço de pano contra um ferimento no ombro. Agora estão indo embora. Parece que ele está bem.
– Mesmo assim, o Colon vai chiar.
– Não sei, não – disse Hood. – O presidente é capaz de gostar da maneira como esse caso foi resolvido. Autopoliciamento sempre pega bem na imprensa. E também pode repercutir bem o tratamento duro com um aliado que vimos protegendo há quarenta e tantos anos...
– Desculpe, senhor – interrompeu Bugs – , mas eu estou com o tenente-coronel Squires no TAC SAT. Acho que vai querer falar com ele.
A sensação de alegria desapareceu e foi substituída por uma nova onda de calor quando Hood atendeu o telefonema e soube o que Rodgers estava tentando fazer...
Oitenta
Quarta-feira, 9:00, cordilheira do Diamante
A descida do morro foi mais difícil do que Rodgers imaginara. Deram uma volta de mais de quatrocentos metros ao redor dos homens postados lá embaixo, rastejando de barriga, na ponta dos pés em ponta, para manter o corpo o mais baixo possível. As pontas das pedras incomodavam, os espinhos espetavam-lhes os braços nus e a montanha ficava cada vez mais íngreme quanto mais desciam. Por várias vezes um homem perdia apoio com o pé e tinha que se agarrar com pés e mãos nas pedras para não escorregar até o acampamento. Rodgers percebeu que aquela devia ser a razão para a tenda principal ter sido instalada naquele lugar. Era extremamente difícil de se aproximar durante o dia e, de noite, mesmo com os visores infravermelhos, seria praticamente impossível.
Rodgers ia na frente, com Moore e Puckett logo atrás. Mandou-os parar atrás de uma rocha, uns vinte metros acima da tenda. Com os dois homens atrás da pedra, Rodgers se inclinou para ver se havia algum sinal de atividade nas redondezas.
Ouviu vozes baixas e abafadas, mas não notou nenhum movimento lá dentro.
Muito estranho, pensou. Completamente diferente do procedimento padrão. Uma vez que os Nodongs tivessem sido posicionados, a atitude normal dos comandantes era ficar no campo. Uma ordem de lançamento não era dada por telefone, e sim pessoalmente. Para Rodgers, era frustrante não entender o que estavam dizendo na tenda. Não que isso importasse. O único jeito que tinham de parar os mísseis era entrar lá e convencer quem quer que estivesse no comando a suspender o lançamento. Embora não pudesse ouvir, estava disposto a arriscar sua aposentadoria de que não era a Coreia do Norte quem tinha armado o lançamento.
Chegou mais perto dos outros.
– Tem dois ou três homens na tenda – murmurou. – Vamos entrar direto pelos fundos. Moore, você abre uma entrada para nós e sai para a esquerda. Vai ter que ser rápido. Eu entro primeiro, depois vem o Puckett e você por último. Eu cubro o lado esquerdo. Puckett, você pega o direito. E Moore fica cobrindo o meio. Vamos entrar de arma na mão. Nada de canivetes. Não queremos sequer que eles pensem em chamar reforços.
Os dois homens assentiram. Pegando a faca, Moore rastejou os últimos metros da montanha, na ponta dos pés, de costas para a pedra. Rodgers foi atrás dele com a Beretta na mão e Puckett cobrindo a retaguarda.
Ao chegar lá embaixo, Moore esperou os outros. Os três se agacharam na área relativamente escura que ficava atrás da tenda, Rodgers ouvindo enquanto Moore tomava a iniciativa.
– ...você vai ver que eu tenho um bocado de apoio aqui – dizia alguém. – O seu próprio povo tornou isso possível. Reunificar, assim como casar de novo, é uma ideia preciosa, mas que acaba não sendo muito prática.
Os sul-coreanos obviamente tomaram esse lugar, pensou Rodgers. Ficou vendo Moore se levantar lentamente atrás da tenda, com a imensa faca apontada para baixo, pronta para dar o golpe. Rodgers ficou atrás dele e Puckett o seguiu, os dois agachados e prontos para invadir.
Se ao menos ele soubesse quem era o invasor e quem o militar da Coreia do Norte... mataria o primeiro sem a menor sombra de dúvida.
Moore fez sinal com a cabeça, depois enfiou a faca com a mão direita. A lâmina rasgou o tecido. Moore puxou a faca até embaixo e saiu para a esquerda. Rodgers saltou para dentro da tenda, pulando para a esquerda e apontando a arma para o coronel sentado no catre. Era careca e segurava um pano todo ensanguentado em volta da mão. Como estava ferido e desarmado, Rodgers notou imediatamente que era o militar norte-coreano e que fora feito prisioneiro dos outros dois. Puckett também saltou para dentro, apontando a arma para o militar de pé, no lado direito da tenda. Agarrou a pistola Tipo 64 antes que ele tivesse tempo de disparar e encostou a Beretta na testa do coronel.
Moore foi o último a entrar, na hora em que Kong, na entrada da tenda, erguia a mão esquerda e largava a Tipo 64 que estava segurando. Com a arma apontada para a cabeça do enorme ordenança, Moore se abaixou para pegar a arma.
Com a mão direita às costas, Kong puxou rapidamente a Tokarev TT33 do cinto e atirou no olho esquerdo de Moore. O soldado caiu para trás e Kong mirou em Puckett.
Rodgers olhara Kong esse tempo todo e, quando a mão direita do grandalhão se mexera em direção às costas, apontou sua arma para lá. Não deu tempo para salvar Moore, mas acertou uma bala na cabeça de Kong, antes que ele pudesse atirar em Puckett. O ordenança caiu todo torto e encostado na cortina da entrada, que com isso se abriu.
O rosto de Puckett parecia de ferro, os olhos pegando fogo.
– Não se mexa, seu monte de merda!
Rodgers ouviu os gritos dos soldados do lado de fora. Olhou para o militar no catre.
– Vou ter que confiar no senhor – falou, sem ter certeza de que estava sendo entendido. – Precisamos deter aqueles mísseis.
Para mostrar boa vontade, apontou a arma para longe e deu um passo atrás. Fez sinal para Ki-Soo se levantar.
O militar curvou a cabeça levemente.
– Seus traidores! – gritou o coronel Sun. – Vejam como morre um verdadeiro patriota!
Sun se atirou para a frente e puxou o braço de Puckett contra si. Reagindo como fora treinado a fazer em situação de ataque, o praça atirou. Sun gemeu, dobrou-se ao meio e caiu aos pés do americano.
Rodgers abaixou-se a seu lado e procurou o pulso.
– Morreu. – Virou-se para Moore. Sabia que o praça tinha morrido, mesmo assim tomou o pulso dele. Tirou um lençol do catre e o passou a Puckett, que cobriu o corpo de Moore.
– Coronel – tentou Rodgers – , o senhor fala inglês?
Ki-Soo balançou a cabeça.
– Pu-t’a hamnida. – Rodgers usou as poucas palavras que sabia em coreano. – Por favor. Os Nodongs... Tóquio.
Ki-Soo fez sinal aos homens que apareciam na porta. Ergueu a mão para pará-los e gritou algumas ordens. Aí, apontou para o homem morto.
Falou uma palavra que Rodgers não entendeu. O coronel então pensou por um momento e falou:
– Il ha-na, i tul, sam set...
– Um, dois, três? – perguntou Rodgers. – Está contando? É uma contagem regressiva? Não, nesse caso seria o contrário.
– Chil il-gop, sa net, il ha-na... – continuou Ki-Soo.
– Sete, quatro, um... é um código? Uma senha? – Rodgers sentiu um calafrio correr por todas as costas. Apontou para o militar morto.
– Está tentando me dizer que ele mudou a senha? É por isso que se matou, para que não o fizéssemos confessar? – Pensou rapidamente. Os circuitos dos Nodongs ficavam numa caixa programada para acionar os mísseis se alguém mexesse com ela. Não havia jeito de impedi-los, a não ser que tivessem o código. – Quanto tempo falta? On-che-im-ni-ka?
Ki-Soo olhou para o relógio de um soldado que estava na porta. Fez a ele a mesma pergunta, e o soldado respondeu.
A única palavra que Rodgers entendeu foi ship yol.
Dez.
Tinham dez minutos antes que os três Nodongs fossem disparados contra Tóquio.
Como um raio, pegou o rádio de Ki-Soo para chamar Squires e pediu para transferi-lo para o TAC SAT.
Oitenta e Um
Quarta-feira, 19:20, Centro de Operações
Hood e seus principais assessores continuavam na sala quando veio a chamada de Rodgers. O diretor colocou o telefone em viva voz e os outros se aproximaram.
– Paul – falou o vice – , estou no sítio dos Nodongs usando o rádio da Coreia do Norte via o TAC SAT no alto da montanha. Os sul-coreanos tomaram a localidade. Perdemos Bass Moore na retomada. O coronel Ki-Soo aqui ao lado está me ajudando muito... mas ele não sabe o código de cancelamento. Os sul-coreanos mudaram tudo e agora estão todos mortos. Temos pouco mais de oito minutos até que esses negócios saiam voando em direção a Tóquio.
– Não dá tempo de mandar aviões, nem do norte, nem do sul
– disse Hood.
– Exato.
– Me dá um minuto – pediu, e depois colocou a cara de Matt Stoll no computador. – Matty, mostre o arquivo dos Nodongs. Como é que se pode detê-los sem ter a senha...
A cara de Stoll desapareceu, dando lugar ao arquivo dos Nodongs. Ele passou os olhos pelos esquemas e listas de especificidades.
– Os circuitos de controle são guardados dentro de cinco centímetros de aço para protegê-los na hora do lançamento... deixa eu ver... Existem três fileiras de algarismos. A de cima é um relógio regressivo. A do meio são as coordenadas de lançamento. Quatro algarismos que permitem mudar o alvo e que aparecem no mostrador por um minuto depois de programados. Desse jeito, você ainda pode fazer alguma modificação antes de se tornarem definitivos. Depois disso, os mesmos quatro números aparecem na fila de baixo, que serve como uma espécie de reconfirmação. Você não entra na fila do meio se não programar a de baixo primeiro. Ela também desaparece depois de um minuto. Portanto, tudo o que tem que fazer é acertar os quatro números de cima e programar zero-zero-zero-zero na fila do meio para eles não dispararem.
– Mas para isso tem que se entrar no programa.
– Exatamente.
– E nós não temos o segundo jogo de algarismos.
– Nesse caso, não podem fazer nada. E para tentar todas as combinações possíveis de quatro algarismos de zero a nove, levaria...
– Tenho aproximadamente sete minutos.
– ...mais que isso – disse Stoll. De repente, sua voz se iluminou. – Só um momento, Paul. Eu acho que tenho a solução.
O arquivo dos Nodongs desapareceu, dando lugar a uma foto do sítio.
– Só um segundo – disse Stoll.
Pelo telefone, Hood ouviu o clique das teclas do computador. Olhou para o relógio regressivo. Queria estender as mãos e segurar aqueles números, atrasá-los, dar-se mais tempo para resolver tudo aquilo. Mais uma vez tinham ido tão longe só para morrer na praia porque o desperdício de tantas vidas era uma coisa que nunca era falada ao descreverem a profissão.
– Martha – chamou Hood, enquanto Stoll continuava trabalhando – , é melhor ligar para o Burkow na Casa Branca e avisar que o presidente talvez tenha que fazer uma ligação para Tóquio.
– Ah, eles vão adorar! – disse a assessora, retirando-se.
– Ligo para a sua sala assim que tiver uma notícia – disse Hood.
Bob Herbert opinou:
– Eu tenho um pressentimento de que, de algum modo, os Estados Unidos vão ser responsabilizados por tudo o que está acontecendo hoje.
– O dia ainda não acabou. – Hood pegou-se falando um chavão. Recusava-se a admitir que o último tiro fora disparado.
Continuou a olhar para a tela, enquanto a imagem dos Nodongs era ampliada e incrementada. Um dos mísseis ficava dez vezes maior a cada cinco segundos.
– Caramba, eu sou mesmo o máximo! – disse Stoll. – Está vendo o que conseguimos, Paul?
– Os Nodongs...
– Sim, mas essa é a foto que eu tirei quando voltamos a operar.
Hood chegou mais perto.
– Você é um gênio, seu filho da puta! – Examinou a tela e franziu a testa. – Mas que merda!
Podiam ler três dos quatro algarismos na linha de baixo: um, nove e oito. Quem quer que os tivesse programado bloqueara a visão do último, à direita.
– Aposto que o último algarismo é oito – disse Stoll. – Foi um assunto muito discutido hoje.
– Vamos torcer para que seja – disse Hood, quando tornou a pegar o telefone de Rodgers.
– Mike, o programa dos mísseis é o seguinte: um-nove-oito-oito na linha de baixo, zero-zero-zero-zero na do meio. Repita.
– Mil novecentos e oitenta e oito na de baixo e quatro zeros na do meio. Não saia daí.
– Pode deixar – disse Hood, mal podendo respirar. – Eu não vou a lugar nenhum.
Oitenta e Dois
Quarta-feira, 9:24, cordilheira do Diamante
A cobertura de folhas fora retirada de cima dos mísseis, que brilhavam como marfim à luz do sol.
Rodgers subiu até o painel de controle do Nodong mais próximo e disse a Puckett para inserir os códigos no segundo e ao coronel Ki-Soo, no terceiro. Um médico o seguia, espumando de raiva enquanto tentava enfaixar a mão dele no caminho.
Rodgers apertou um-nove-oito-oito, em seguida esperou ansiosamente para que a fila do meio se acendesse.
Só que não acendeu.
– Nada aqui, senhor – disse Puckett.
– Eu sei, soldado.
Nem tentou teclar os números de novo. Não com quatro minutos e vinte e cinco segundos no cronômetro regressivo. Correu de volta para a tenda.
– Paul – falou – , não deu certo. Tem certeza de que os números são aqueles?
– A parte do um-nove-oito, sim – admitiu. – Não estamos certos quanto ao último.
– Maravilha – rosnou Rodgers, enquanto zunia como um raio da tenda.
Pensou, ao correr de volta para o Nodong: Menos de cinco minutos. Demora uns cinco segundos para acertar cada número. Não sobra muito tempo.
– Praça Puckett – ordenou – , comece com mil novecentos e oitenta e depois...
Um soldado cheio de medalhas correu até o Nodong de Puckett. Empurrou o praça para longe, fora do ângulo de visão de Rodgers, sacou a pistola e atirou uma vez para o chão. Depois se virou e descarregou um monte de balas nos controles, antes que Ki-Soo desse ordem a seus homens para agarrá-lo. Os norte-coreanos jogaram-no no chão. Ele caiu gritando.
A voz de Squires estalou no rádio de campo.
– Ouvimos um tiro. O que foi?
Rodgers tirou o rádio do cinto.
– Alguém que não gostou de ver a gente aqui. Não se preocupe. Já foi pego.
– Aqui em cima nos sentimos meio inúteis, senhor – comentou Squires.
Rodgers não respondeu. Entendia muito bem. Mas no momento tinha um problema mais sério para resolver.
O médico saiu do lado de Ki-Soo e correu até onde estava Puckett. Controlando a vontade de ajudá-lo, Rodgers subiu no míssil mais próximo e começou a teclar os números.
Um-nove-oito-zero.
Nada.
Um-nove-oito-um.
Nada. E nada aconteceu até chegarem ao um-nove-oito-nove. Então se ouviu um bip, a fda do meio se acendeu e ele rapidamente mudou os números para zero-zero-zero-zero. Quando terminou, o míssil começou a abaixar.
O cronômetro na linha de cima dizia dois minutos e dois segundos. Correu para o míssil de Puckett. A caixa de circuitos tinha sido totalmente destruída, mas pelo menos Puckett estava vivo. O médico retirara a camisa dele e limpava o sangue de um ferimento no ombro.
– Coronel! – gritou Rodgers, quando pulou de cima do míssil. Pôs as mãos do lado do caminhão. – Temos que empurrar... empurrar para lá, de modo que atinja aquele morro. – Apontou. – Ele é deserto e ninguém morre.
Ki-Soo entendeu e deu ordem aos soldados. Enquanto o médico tirava Puckett do caminho, 15 homens correram para um lado do míssil e começaram a empurrar. Ki-Soo deu a volta no caminhão e atirou nos pneus daquele lado. Enquanto os soldados empurravam, Rodgers correu para o último míssil. Ainda dá tempo, disse a si mesmo. Vai dar tudo certo...
Atrás dele, ouviu barulho de metal batendo – o peso do míssil mudando de posição. Sem parar, olhou para o misto de caminhão e míssil, agora caído, o míssil escorregando de lado no suporte que parecia um guindaste... e os homens gritando no momento que começou a sair fumaça do rabo, seguida de um jato de fogo amarelo e laranja. O Nodong dera a partida na hora que o caminhão tombou.
Impossível!, pensou Rodgers ao se jogar no chão, protegendo a cabeça. Derrubar o caminhão não faria o míssil disparar.
Soldados corriam em todas as direções para longe da espiral de fogo que surgiu na hora em que o míssil partiu do caminhão virado, lançando-se pelo terreno, levando tendas, jipes e árvores, e deixando um rastro de destruição atrás de si. Arrebentou tudo o que estava no caminho por quase um quilômetro até bater no lado de um morro, explodir numa bola de fogo de mais de trezentos metros e emitir uma onda de choque em direção à base.
Quando sentiu a bola de fogo passar sobre si, Rodgers imediatamente se pôs de pé e correu para o último dos Nodongs.
Teve um mau pressentimenro enquanto corria – um sentimento de que o militar sul-coreano ia rir por último. Todos haviam pensado que os mísseis foram programados para serem disparados ao mesmo tempo.
Mas então, por que não foram? E por que deveriam ser? O sul-coreano correra de um para o outro e daí para o último. Devem ter se passado minutos entre um e outro. O primeiro míssil programado acabara de ser lançado. O que ele tinha desarmado poderia ser o segundo ativado ou o terceiro. O que significava que ainda podia dispor de um minuto ou coisa parecida. Ou então...
Quando estava a cerca de vinte metros do Nodong, viu sair fumaça do rabo.
E foi aí que finalmente percebeu. Os cronômetros tinham sido programados para disparar em horas diferentes. Por que não?
Não daria tempo de acionar aviões ou disparar mísseis ar-ar – não contra um míssil capaz de atingir a velocidade de 3.200 quilômetros por hora. Mesmo se lançassem mísseis Patriot do Japão não haveria qualquer garantia: e se o Nodong nem passasse perto deles?
– Coronel! – gritou Rodgers, começando a correr na direção de Ki-Soo.
Só havia um jeito, e ele achava que o militar já tomara a iniciativa. Enquanto o Nodong continuava a assobiar e o fogo se acendia, Ki-Soo gritava ordens no rádio e os soldados procuravam rapidamente abrigo atrás das pedras ou debaixo de platôs.
Bom sujeito, pensou Rodgers, quando literalmente mergulhou atrás dos destroços fumegantes de um jipe destruído pelo último Nodong. Caiu de mau jeito e lançou os braços sobre a cabeça no exato instante em que o último míssil partiu, deixando atrás de si um raio de fogo e fazendo o barulho de um dragão à solta, cortando o céu da manhã.
Então Rodgers pensou em Squires e na equipe de ataque e se movimentou para tirar o rádio do cinto. Mas este fora esmagado quando Rodgers caiu em cima dele e, agora, tudo o que podia fazer era rezar para que não interpretassem mal o que viam...
Oitenta e Três
Quarta-feira, 19:35, Centro de Operações
– Más notícias, Paul – disse Viens, pelo telefone do DVN. – Parece que um dos Nodongs saiu do controle deles.
– Quando?
– Há alguns segundos. Vimos a hora que acendeu... e estamos esperando pelas próximas imagens.
– O Hefesto está de olho nele?
– Está. Já vamos dizer para onde está se dirigindo.
– Vou ficar na linha – disse Hood e botou o telefone seguro em viva voz. Olhou para Darrell McCaskey e Bob Herbert, que continuavam na sala.
– O que é, chefe? – perguntou Herbert.
– Um Nodong foi disparado na direção do Japão. Bob, descubra se existe alguma aeronave de vigilância na região e avise ao Pentágono que é melhor que preparem os caças de Osaka.
– Eles nunca vão interceptá-los – disse Herbert. – É como procurar uma agulha num palheiro do tamanho da Geórgia.
– Eu sei, mas temos que tentar. Se chegarem a vê-lo, podem ter sorte. Darrell, o DVN vai pegar a emissão de infravermelho do míssil com o satélite Hefesto. Vamos usar o traçado para pelo menos dar ao pessoal dos caças uma área provável onde procurar. – Ficou quieto por um instante. Tantas vidas, pensou. O presidente vai ter que ser avisado imediatamente para poder telefonar ao primeiro-ministro japonês.
– Talvez nós consigamos dar às pessoas da região alguns minutos para procurar abrigo – falou. – Pelo menos, já é alguma coisa.
– Certo – disse McCaskey.
Hood estava prestes a ligar para a Casa Branca no segundo telefone, quando Viens o interrompeu.
– Paul... está aparecendo uma coisa diferente na tela.
– O que é?
– Flashes – disse Viens. – Mais do que eu já vi desde Bagdá na primeira noite da operação Tempestade no Deserto.
– Flashes de que tipo?
– Não sei ao certo. Estamos aguardando a próxima foto. Mas é i-na-cre-di-tá-vel!
Oitenta e Quatro
Quarta-feira, 9:36, cordilheira do Diamante
Com o binóculo, o tenente-coronel Squires viu quando o Nodong decolou e a artilharia antiaérea abriu fogo.
A primeira coisa que pensou era que haviam iniciado um ataque aéreo e seu primeiro impulso foi o de dispersar os homens e atacar as posições das armas. Mas por que estariam disparando contra si mesmos? Se um avião estivesse vindo, atirariam na direção que o radar apontasse. Então viu as armas se abaixarem ao atirarem e compreendeu.
As balas de 37mm saindo dos pentes cortavam o céu por todos os lados, com duas baterias de cada lado, armando um escudo de explosivos cerca de mil pés acima da localização dos Nodongs. As balas, guiadas por radares, batiam umas nas outras, e eram substituídas por outras novas a cada meio segundo.
Os norte-coreanos estavam erguendo uma barreira tentando abater o próprio míssil. O Nodong aumentava de velocidade – cem, duzentos pés de altitude e acelerava ainda mais, subindo em direção ao fogo cruzado. As balas pontilhavam a manhã, os pentes diminuindo, os estouros altos parecendo fogos sendo jogados num barril. A imagem lembrava Squires de uma vela de brincadeira quando queimava, as explosões ficando cada vez mais baixas à medida que o foguete subia.
Só haviam se passado dois ou três segundos desde o lançamento do Nodong, mas o míssil parecia estar a apenas alguns momentos da barreira incandescente. Não havia qualquer garantia de que o fogo antiaéreo pudesse detê-lo, e ainda existia a possibilidade de os tiros só o tirarem da rota, mandando o míssil desviado para uma aldeia da Coreia do Norte ou do Sul.
O fogo caía sobre o sítio dos Nodongs, como a chuva de fogo na Bíblia, incendiando tendas e veículos. Squires torcia para que Rodgers e os rapazes estivessem bem – e que, se o míssil explodisse, não levasse junto os homens em terra.
Quantas vezes seu coração tinha batido desde que o Nodong decolara? Poucas, disse a si mesmo. Agora parecia ter parado, quando o nariz do míssil adentrava o fogo antiaéreo.
E foi como um sonho, um inferno de fogo e aço em câmera lenta, enquanto as balas acertavam o míssil de cima a baixo e atingiam-no de lado a lado como um bandido numa emboscada em filme de gângster. Os sons de tiro foram suplantados por uma sucessão de poc-poc-pocs cada vez que uma bala o atingia.
Num instante, a artilharia antiaérea fora do começo ao meio do míssil e dali até a cauda. E então, tudo no horizonte de Squires deixou de ser azul para ficar vermelho, no momento em que o céu explodiu.
Oitenta e Cinco
Quarta-feira, 9:37, cordilheira do Diamante
Rodgers ouvira as balas explodindo e o ruído da artilharia antiaérea tremer toda a terra à sua volta. Mas embora soubesse que o rosto da Medusa não estava muito além, tinha que olhar, tinha que ter certeza do que estava acontecendo e assim tirou o braço da cabeça e forçou os olhos na direção do céu.
A fúria e a grandiosidade do que viu tiraram-lhe o fôlego.
De todos os historiadores, filósofos e dramaturgos que estudara e podia citar de cor, só uma pessoa – um advogado – lhe vinha à mente ao testemunhar o espetáculo do míssil entrando na cortina de fogo antiaéreo.
“... e o clarão vermelho do foguete, com as bombas explodindo no ar...”
O teimoso Nodong procurou se embrenhar pela parede de explosivos, foi estraçalhado e explodiu – com uma fúria que parecia estar ali ao lado, e não a quatrocentos metros de distância.
Rodgers cobriu a cabeça outra vez, o calor da explosão chamuscando os cabelos das mãos e dos pulsos e o suor em suas costas indo de frio a quente num segundo. Apertou os dedos médio e indicador contra as orelhas para evitar o barulho da explosão que viria no momento seguinte, batendo tão forte em seu peito que ele literalmente pareceu um tambor.
Então os destroços flamejantes do Nodong destruído começaram a cair do céu, alguns do tamanho de moedas, outros tão grandes como chapas de aço. Caíam e batiam à sua volta, enquanto ele se enfiava firmemente debaixo do jipe parcialmente destruído, gritando e se remexendo quando um pedaço do tamanho de uma unha de polegar atingiu-lhe a canela, queimando-o através das calças.
Depois de alguns minutos, houve um silêncio pesado e profundo, seguido do som dos homens se levantando e chamando os companheiros.
Os ossos de Rodgers estalaram quando ele saiu debaixo do jipe, apoiado nos calcanhares, e olhou para o céu. Exceto por um pouco de fumaça que se dissipava rapidamente, estava claro.
Rodgers se levantou e viu que estava tudo bem com Ki-Soo. A maioria dos soldados estava abalada, alguns sangravam, mas nenhum ferido gravemente.
O americano bateu continência para o coronel e agora era Shakespeare quem parecia ser o mais apropriado:
“Porque nada está perdido,
Quando o dever e a humildade se apresentam.”
Oitenta e Seis
Quarta-feira, 9:50, cordilheira do Diamante
Quando Rodgers conseguiu fazer Ki-Soo entender que havia uma equipe nas montanhas, o coronel mandou um caminhão recolher os homens. A maioria dos americanos ainda estava desconfiada quando chegou ao acampamento, mas Squires estava feliz de rever Rodgers e Puckett estava feliz de ver seu rádio. O tenente-coronel deixou-o com ele, enquanto o médico coreano examinava o ferimento no ombro.
– Ainda bem que você não abriu fogo – disse Rodgers, enquanto bebia do cantil de Squires. – Eu tinha medo de que você atirasse nos homens da artilharia antiaérea.
– Eu quase atirei, se não tivessem disparado todas as armas ao mesmo tempo. Demorou um segundo, mas compreendi o que estavam tentando fazer.
Foi Puckett quem atendeu quando Hood ligou do Centro. Rodgers e Squires estavam afastados, perto de um jipe, com o corpo coberto de Moore no banco de trás. Quando a chamada chegou, Rodgers correu para lá, seguido de Squires.
– Sim, senhor – disse Puckett. – O general está aqui.
Passou os fones de ouvido a Rodgers.
– Bom dia, Paul.
– Boa noite, Mike. Vocês fizeram um milagre aí na Coreia. Meus parabéns.
Rodgers ficou em silêncio um momento.
– Isso teve um preço, Paul.
– Eu sei, mas não quero que se arrependa de nada do que fez – disse Hood. – Perdemos pessoas valiosas hoje, mas esta é a porcaria do negócio em que estamos metidos.
– Eu sei – disse Rodgers. – Mas não é isso o que se pensa quando se encosta a cabeça no travesseiro. Vou ficar remoendo isso por um bom tempo.
– Tudo bem, desde que conte as vidas que salvou. O outro soldado que o Charlie disse que ficou ferido...
– Puckett. Ferimento no ombro. Vai ficar bem. Escute, eu acho que o coronel Ki-Soo quer nos escoltar até o ponto de partida, portanto já estamos saindo.
– Esta súbita paz parece um pouco estranha – disse Hood.
– Só um pouquinho. Robert Louis Stevenson um dia pediu a seus leitores para experimentarem as maneiras dos diferentes países, antes de formar uma opinião a respeito. Eu sempre achei que, nesse ponto, ele tinha razão.
– Uma coisa que você nunca conseguiria aprovar no Congresso, na Casa Branca ou em qualquer outro governo da Terra – acrescentou Hood.
– É verdade. Foi por isso que o Stevenson escreveu O médico e o monstro. Acho que ele não acreditava que se pudesse modificar a natureza humana. Paul, tornarei a entrar em contato quando estivermos voltando do Japão. Quero saber o que o presidente vai dizer de tudo isso.
Hood prendeu o riso.
– Eu também, Mike.
Depois de pedir a Hood para obter com Martha uma informação, Rodgers e seus homens subiram em dois dos quatro caminhões que iam levá-los com a comitiva de Ki-Soo para as montanhas.
Enquanto subiam, Rodgers segurava o pequeno objeto do tamanho de um grampeador que mostrara a Squires. A cada duzentos metros, ele apertava um botãozinho na parte de trás e soltava.
– Esse é o localizador de EBCs, não é, senhor? – perguntou Squires.
Rodgers assentiu.
– E o que está fazendo?
– Destruindo todos – respondeu. – Confiança é bom, mas um pouco de cautela também nunca é demais.
Squires concordou, enquanto o caminhão aberto pulava no terreno acidentado.
O Sikorsky S-70 Black Hawk chegou à cordilheira do Diamante na hora marcada, o piloto mostrando surpresa quando Squires lhe disse para vir direto e aterrissar.
– Sem escadas, nem manobras bruscas? – perguntou.
– Não. Aterrisse. Estamos saindo como verdadeiros cavalheiros.
O helicóptero chegou na hora, com as metralhadoras M-60 num silêncio sinistro nas laterais. Enquanto os homens embarcavam, Rodgers e Ki-Soo se despediram e Squires ficou olhando.
Ki-Soo fez um pequeno discurso para os oficiais americanos, com palavras incompreensíveis, mas de significado bem claro. Estava agradecendo por tudo o que fizeram para proteger a integridade do país.
Quando terminou, Rodgers se curvou e disse:
– Annyong-hi ka-ship-shio.
Ki-Soo se mostrou alegremente surpreso e disse em resposta:
– Annyong ha-simni-ka.
Os dois homens se cumprimentaram, Ki-Soo mantendo a mão enfaixada caída ao longo do corpo, depois disso os americanos se retiraram. Quando embarcaram no helicóptero, Squires foi dar uma olhada em Puckett, deitado numa maca no chão. Feito isto, sentou-se exausto ao lado de Rodgers.
– O que vocês dois falaram? – perguntou Squires.
– Quando eu estava com o Paul no rádio, pedi-lhe para perguntar a Martha Mackall como se diz “Adeus e que tudo corra bem com a sua casa” em coreano.
– Um sentimento muito bonito.
– É claro que eu e a Martha não nos damos muito bem... Que eu saiba, posso muito bem ter dito que sou alérgico a penicilina.
– Não acho. Na hora de responder, ele falou um negócio bem parecido com o que o senhor tinha falado. A não ser que ele também seja alérgico.
– Não me surpreenderia – disse Rodgers, enquanto a porta do helicóptero se fechou e o Black Hawk se ergueu no céu cada vez mais claro. – A cada dia que vivo, Charlie, menos coisas me surpreendem.
Oitenta e Sete
Quarta-feira, 22:30, Seul
Kim Hwan sentou-se na cama, com a cabeceira levantada e o travesseiro caído. Ele queria, porém, depois das reviravoltas físicas e emocionais das últimas horas, parecia não ter mais força de vontade ou energia para esticar a mão e pegá-lo.
O homem que salvara as Coreias era incapaz de esticar o braço e pegar o travesseiro. Havia uma ironia em tudo aquilo, embora não estivesse com o menor ânimo de pensar no assunto.
A dor contínua que sentia na lateral do corpo o impedia de dormir e as ataduras muito apertadas dificultavam a respiração. Mas eram os acontecimentos das últimas horas que o mantinham acordado. A morte de Donald vinha-lhe à cabeça como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Entretanto, apesar de incrível, por outro lado parecia estranhamente inevitável. A vida dele se acabara com a morte da esposa – teria sido mesmo há menos de 24 horas? – e agora pelo menos estavam juntos. Donald não teria acreditado, mas Soonji acreditava e Hwan também. Dois contra um. O velho ateu tinha virado um anjo, gostasse ou não.
Enquanto Hwan estava deitado e olhando a parede de tijolos pela janela, Bob Herbert telefonou para informar o que aconteceu na cordilheira do Diamante e falar dos outros homens envolvidos no golpe – os dois que a equipe de ataque matara no sítio dos Nodongs. Hwan sabia que a Coreia do Sul dificilmente receberia os corpos com muita rapidez, embora com certeza fossem mandar as impressões digitais para identificação.
– Não ouvimos mais ninguém chiar – disse Herbert. – Assim, ou pegamos o grupo inteiro ou então eles se recolheram para fazer novas tentativas para outro dia.
Hwan disse baixinho:
– Com certeza essa não é a última vez que vamos ouvir falar dessa gente.
– É provável que tenha razão. Radicais são feito bananas. Dão aos cachos.
Hwan disse que gostou da comparação, depois disso Herbert reiterou os agradecimentos de Hood pelos esforços da KCIA e desejou um pronto restabelecimento.
Desligando o telefone e decidindo pegar o travesseiro de uma vez por todas, Hwan ficou surpreso em ver alguém esticar a mão e pegar para ele. As mãos fortes levantaram-lhe a cabeça com cuidado e colocaram o travesseiro embaixo dela, acolchoando bem os lados para que ficasse bem confortável.
Hwan olhou para o lado.
– Diretor Yung-Hoon – disse, surpreso. – Onde é que está...?
– ...Hongtack? A essa hora, deve estar a caminho de seu novo posto... um veleiro que rastreia transmissões chinesas no mar Amarelo. Parecia acreditar que os nossos diferentes métodos de atuação eram uma fraqueza e não uma força.
– Talvez... o senhor devesse reservar um lugar para mim, do lado dele – disse Hwan. – Era exatamente o que eu pensava.
Yung-Hoon fez uma careta.
– Às vezes a impressão que dá é que batemos de frente. Mas, depois de hoje, não vai acontecer mais.
Alguém do governo deve ter dado alguma instrução ao diretor sobre como tratar daquele caso. Não ficaria surpreso se soubesse que Bob Herbert e Paul Hood tinham interferido em seu favor. Yung-Hoon sempre se mostrava receptivo a coisas como essas.
O diretor pôs a mão na de Hwan.
– Quando sair daqui, vamos mudar algumas coisas. Vou delegar certas responsabilidades de modo que não tenha que se reportar a mim...
Alguém realmente tinha falado com ele.
– ...Poderá fazer as coisas à sua maneira. Também sugeri ao presidente que criasse uma espécie de bolsa na universidade, alguma coisa para homenagear o sr. Donald no departamento de ciência política.
– Obrigado. Não se esqueça da mulher do Cho. Vai precisar de ajuda.
– Já foi providenciado.
Hwan olhou o diretor com o maior cuidado ao perguntar:
– E a srta. Chong, como vai?
Parecia que a gravata de Yung-Hoon estava apertada demais.
– Foi embora. Como você... pediu, nós a deixamos ir.
– Ela salvou a minha vida. Eu devia isso a ela. Mas vocês a perseguiram?
– Bem... sim. Queríamos saber para onde ia.
– E...
– Ela acabou indo parar em Ymgyang. Na casa do seu tio.
Hwan sorriu. Eles nunca a encontrariam. Tio Pak a esconderia no barco, onde não se atreviam a pisar, e daria um jeito de ela chegar de alguma forma ao Japão.
– Você não acha que ela vai voltar a espionar para a Coreia do Norte? – perguntou Yung-Hoon.
– Não. Ela nunca gostou da profissão. Estou feliz que vá conseguir encontrar o que sempre deu valor.
Yung-Hoon deu-lhe um tapinha na mão.
– Se é isso o que você pensa, Hwan... – O diretor se levantou.
– Coloquei um dos seus homens lá fora, o Park. Se precisar de alguma coisa, é só falar com ele, ou direto comigo.
Hwan agradeceu e Yung-Hoon o deixou – não sozinho, mas com os fantasmas: lembranças doces e ao mesmo tempo amargas de Soonji e Donald, do pobre motorista Cho e da fechada mas fascinante srta. Chong. Nem ele tinha certeza se seu tio lhe diria onde a levou, mas jurou que de alguma forma descobriria. Como aquele dia tinha mostrado, havia amizades e compromissos que transcendiam fronteiras políticas e nem sempre dava tempo de utilizá-los.
O tempo ia fortalecer aqueles laços. Porque, no fim, o que lembrava de todas as pessoas era o que tinham no coração, não nos dossiês.
Oitenta e Oito
Quarta-feira, 21:00, Centro de Operações
O presidente chegou ao Centro sem avisar.
Veio em sua limusine blindada, com dois agentes do serviço secreto, o motorista e mais ninguém – nenhum assessor, nenhum repórter.
– Nenhum repórter? – comentou Ann Farris, quando a sentinela no portão da Base Aérea de Andrews comunicou a chegada a Paul Hood. – Então deve estar se referindo a um ex-presidente.
– Você é cínica demais – disse Hood, recostando-se na cadeira. Acabara de brifar todos os chefes de departamento (Bob Herbert, Martha Mackall, Darrell McCaskey, Matt Stoll, Lowell Coffey, Liz Gordon, Phil Katzen e Ann) e agradecia não só pelo trabalho, mas por sua criatividade e cooperação. Disse-lhes que nunca tinha visto uma equipe tão eficiente, em todas as frentes, e que estava orgulhoso do trabalho deles. E orgulhoso deles, individualmente.
Estava prestes a deixar a sala quando veio a ligação. E assim, ele se sentou para esperar.
Ann aguardou ao lado dele.
Ela não conseguia parar de sorrir. Não estava só feliz porque tudo tinha dado certo para o Centro, não só porque todas as redes de televisão interromperam o horário nobre com a notícia da destruição dos Nodongs. Não só porque ela e seu equivalente no Pentágono, Andrew Porter, conseguiram espalhar para a imprensa que o que Gregory, Donald e o general Michael Schneider fizeram foram atos humanitários, e não partidários. Divulgaram aquela versão com suficiente rapidez, honestidade e impacto, de modo que, o quer que a Coreia do Norte dissesse sobre o complô do major Lee, soaria deselegante e revidativo.
Ann também estava feliz por Paul.
Ele conseguira conciliar sua responsabilidade no Centro com a responsabilidade de pai e marido. Nenhuma das duas era fácil, e ambas demandavam tempo integral. Não fazia a menor ideia de como ele conseguira aguentar. Sharon Hood nunca saberia o quanto aquele dia exigira dele, mas Ann sabia. Gostaria de ter um jeito de mostrar isso a ela... mas nada lhe ocorria.
A assessora de imprensa não encontrava palavras para se expressar!, riu.
Não, não era totalmente verdade. O que Ann tinha a dizer não era nada que uma fã de carteirinha pudesse dizer a uma esposa. Que Paul Hood era um homem muito especial, de bom coração, íntegro e que tinha grande capacidade de amar. O que Ann diria a Sharon, ainda que só em fantasia, era para tratar bem do Paul e deixá-lo tratá-la bem... lembrar-se de que um dia ele deixaria de lado seu trabalho, as crianças estariam crescidas e o amor que tinham alimentado iria florescer e enriquecer suas vidas.
Paul estava dizendo como queria que os funerais de Gregory Donald e Bass Moore fossem organizados, embora ela mal acompanhasse o que ele falava. Sua cabeça e seu coração estavam perdidos num outro lugar... com Paul, num mundo imaginário onde ele a abraçaria depois que todos tivessem ido embora e a levaria para jantar num lugar rápido e informal; depois a levaria para casa, faria amor com ela e dormiria com a cabeça encostada em seu peito...
– Sr. Hood? – disse Bugs no computador.
– Sim?
– O presidente está chegando.
Hood riu quando Bugs pôs no monitor a imagem da câmera do corredor. O presidente acenava para os funcionários do Centro nas saletas, mal parando para cumprimentar pessoas que não conhecia, retendo os olhos apenas o tempo suficiente até passar para o rosto seguinte.
Paul se levantou quando o presidente entrou na sala, igual aos demais chefes de departamento que já não estivessem de pé. O presidente fez uma cara de que isso?... e pediu que todos se sentassem.
Todos obedeceram, com exceção de Paul. O presidente cruzou a sala e apertou sua mão.
– Belo trabalho, sr. chefe da Força-tarefa.
– Obrigado, senhor.
Atrás dele, Ann soltou um suspiro. Não era a Força-tarefa. O mérito era de Paul e do Centro.
O presidente se virou, esfregando as mãos.
– Bom trabalho, muito bom trabalho mesmo. Todos os envolvidos no projeto, de Paul à equipe de ataque, do pessoal da Segurança Nacional a todos vocês, todos se saíram muito além das expectativas.
– Nós tivemos a nossa cota de ajuda – disse Hood. – Gregory Donald, Kim Hwan na KCIA, o oficial da Coreia do Norte no sítio dos Nodongs...
– Claro, Paul. Mas você pôs tudo no lugar. O mérito é todo seu, assim como todos os departamentos dedicados à superação da crise. Embora o general Schneider tenha dito que pretende pedir uma menção civil para o sr. Donald. Diz que quer pessoalmente entregar a medalha. Também daremos um voto de louvor à equipe de ataque, que teve a sua cota de sacrifício.
Cota de sacrifício, pensou Ann. Era isso o que os presidentes diziam quando não tinham certeza de quantas pessoas haviam morrido e quantas saíram feridas. Mas ela se recusou a deixar o presidente Lawrence estragar aquele momento e torcia para que Paul continuasse citando todas as pessoas que ajudaram. Tudo o que ele fazia parecia elevá-lo aos olhos dela. Começou a escrever a carta na cabeça:
“Querida Sharon, espero que você me perdoe, mas raptei seu marido. Vou devolvê-lo quando estiver grávida de um filho dele, porque preciso desesperadamente de um pedacinho deste homem sendo meu, para sempre...”
– Porém – dizia o presidente – , eu não vim aqui só para elogiar todos vocês. Quando criei o Centro de Operações há seis meses, foi uma espécie de teste... o que eu e outros, como o secretário Colon e Steve Burkow, achávamos que seria um acréscimo útil, uma equipe de solução de crises integrando as nossas agências de espionagem e forças militares já existentes. Ninguém tinha certeza se ia funcionar ou não.
O presidente abriu um largo sorriso.
– Certamente nenhum de nós tinha a menor ideia de que funcionaria tão bem.
Lowell Coffey aplaudiu devagar.
O presidente prosseguiu:
– No que disser respeito a mim e aos meus assessores, o Centro de Operações acabou de ganhar suas próprias pernas. Não é mais uma operação provisória e eu gostaria de finalmente, e oficialmente, sacramentá-lo num almoço reservado na Casa Branca. Depois disso, Paul, poderemos discutir o que você pensa que daria mais eficiência à organização. Não que o Congresso vá aprovar isso, mas vamos tentar de todas as maneiras.
– Senhor presidente – disse Hood, levantando-se – , todos nós estamos lisonjeados com o seu voto de confiança. Por mais longos que os últimos seis meses tenham parecido, o dia de hoje parece ter sido bem mais longo... e estamos felizes por tudo ter se resolvido. Quanto a amanhã, acredito que eu não vou poder comparecer ao seu almoço.
Pela primeira vez desde que conheceu o presidente, Ann Farris o viu recolher-se, surpreendido.
– E mesmo? – perguntou o presidente, coçando a testa. – Se é para comprar ingressos para a final do campeonato, eu gostaria de um lugar para mim.
– Não é isso, senhor. Amanhã eu vou tirar o dia para ensinar meu filho a jogar xadrez e ler umas histórias bem violentas para ele.
O presidente apoiou e sorriu sincero.
Ann Farris aplaudiu.
Tom Clancy
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















