



Biblio VT




Este romance baseia-se em factos reais, ocorridos em 1937. Um grupo de opositores ao Regime tentou matar o Presidente do Conselho Oliveira Salazar, com um ataque à bomba, quando ele ia assistir à missa, na casa de um amigo, na Avenida Barbosa du Bocage. A Polícia de Vigilância e Defesa do Estado tomou conta do caso. A obsessão do seu Diretor-Geral, na perseguição a elementos do Partido Comunista, fê-lo cair num erro de avaliação, acabando por prender um bando de inocentes.
Tudo se complicou quando os verdadeiros autores se revelaram, dando origem a um dos episódios mais grotescos da vida daquela polícia política, da qual emergiria, anos depois, a PIDE – Polícia Internacional de Defesa do Estado.
O processo em que nos baseámos foi conduzido pelo juiz Alves Monteiro, na altura dos factos, Diretor da PIC, Polícia de Investigação Criminal. Trata-se de uma investigação à investigação feita pela PVDE e de um documento precioso sobre as práticas e métodos de trabalho utilizados pela Polícia do Regime. Sem ela, Salazar não teria conseguido tão grande longevidade à frente dos destinos de Portugal.
Agradeço ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária, assim como a todos os responsáveis do Departamento de Relações Públicas e Documentação, pela disponibilidade e permissão de acesso ao processo em que se baseia este livro. Quero sublinhar as obras de vários autores que escreveram sobre o caso – com particular relevo para o jornalista Valdemar Cruz, o primeiro e o melhor trabalho –, que muito me ajudaram.
Várias personagens são do terreno da ficção. Traduzem um tempo vincado por uma forte moral repressiva e assente no preconceito. Quer a estrutura narrativa, quer o psicodrama e os diálogos são produto da criação literária. É que, como é óbvio, eu não estava lá.
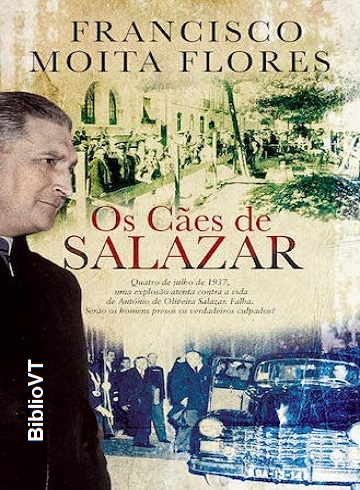
Entardecia em Lisboa. Naquele ano de 1937, o mês de agosto viera quente e a cidade ofegava, mesmo depois de o Sol desaparecer no horizonte. O carro da rega borrifava as ruas e a momentânea frescura rapidamente se evaporava, tornando a atmosfera mais sufocante. Os pardais ficavam em silêncio e apenas a sirene de algum navio, que partia, lançava sons fortes sobre a cidade. O Tejo dormitava, preguiçoso, e nem uma ligeira brisa soprava, e as poucas pessoas que cruzavam as ruas albergavam-se nas sombras dos prédios, aliviando-se do sol incandescente.
Lisboa abrasava. As portas abertas, as janelas escancaradas, esperavam um afago de frescura. Mas em vão. Hordas de moscas, legiões de mosquitos, invadiam as casas e as vielas transpiradas. Ao acender da iluminação a gás, o odor a querosene e a fumo azedo trazia bandos negros de morcegos, em danças fantásticas, banqueteando-se de insetos e libertando sussurros, como se fossem zumbidos, que assustavam as velhas do Bairro Alto, que viam naquela estranha multidão um sinal de mau agoiro lançado pelos céus. Na verdade, naquele verão, o inferno instalara-se na capital do País.
No Chiado, passavam sombras fugidias, cansadas, carroças do lixo desconjuntadas, um ou outro elétrico melancólico, que pontuava a marcha com o tlim, tlim da sineta aquecida pela brasa. Os motoristas dos carros de praça, no Luís de Camões, abanavam-se, fora dos veículos, enquanto esperavam clientes. E para sobrecarregar de drama aquele entardecer, cruzavam-se com frequência tosses tuberculosas, assustando quem as escutava. Já restavam poucos gritos dos ardinas apregoando as notícias da tarde e nas tabernas gorgolejava vinho quente pelas gargantas suplicantes de escriturários e funcionários públicos, camisolas em água de tanta transpiração.
Mais abaixo, na António Maria Cardoso, na sede da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, Agostinho Lourenço postara-se à janela do seu gabinete, olhando o rio, suspirando por uma lufada de frescura, e deu por si a apreciar a estranha dança dos morcegos agoirentos sobre o casario e ruelas mais próximas. Negros, imprevisíveis, inquietos, rápidos, movimentos ágeis, devorando as suas presas.
O Diretor-Geral da polícia política sorriu. Eram, de alguma forma, uma metáfora sobre a Polícia que ele tinha criado para servir o Estado Novo. Havia sede de sangue naquele ambiente onde devoravam mosquitos com o mesmo prazer dos seus homens a desfazerem inimigos da Pátria.
O raro sorriso também se devia ao grande momento que tornara aquele dia num dos mais emblemáticos da já longa carreira ao serviço da República. A sua tropa acabara de desmantelar uma tenebrosa célula subversiva que tivera a ousadia de atentar, com poderosa bomba, contra Sua Excelência, o Senhor Professor António de Oliveira Salazar.
Aproveitando, à traição, o hábito de o Senhor Presidente do Conselho assistir à missa dominical na casa de um amigo pessoal, na Avenida Barbosa du Bocage, colocaram na conduta do esgoto tal carga de explosivos que só a mão de Deus, piedosa e atenta aos destinos de Portugal, salvou o grande timoneiro. Se alguém tivesse dúvidas, a explosão formidável que fez estremecer Lisboa não lhe tocou num cabelo. Embora tivesse acontecido a poucos metros do Buick que o transportava, ali se construíra um pedaço de História que vivia na crença de muitos patriotas: Salazar era um dos raros ungidos pela Graça do Senhor. Só alguém protegido por Deus poderia escapar ileso de tão grande tempestade de fogo que lhe rebentara quase por debaixo dos pés.
Agostinho Lourenço reconhecia com humildade, enquanto apreciava o bailado assassino dos vampiros, que a sua Polícia também fora tocada pela Providência Divina. Ainda pairavam na atmosfera os cheiros e as cinzas da explosão, e já os seus homens prendiam os criminosos.
Mal passara uma semana sobre o espantoso evento que ameaçara a vida do Presidente do Conselho. Os agentes da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado tornaram-se verdadeiras feras, farejando presas, invadindo tugúrios, mobilizando redes de informadores, e o resultado chegou como prémio de tanta dedicação à defesa do Estado Novo e da Pátria. Se houvera milagre na Avenida Barbosa du Bocage, poucas dúvidas restavam de que a sua Polícia morava bem próximo do céu.
Agora, sorrindo aos morcegos, digeria o estrondo de aplausos que chegaram de todo o País e de muitos países europeus. A Polícia que construíra ao longo dos últimos quatro anos era reconhecida e prestigiada entre os verdadeiros patriotas e além-fronteiras.
Voltou-se quando ouviu ruído no gabinete. Eram os seus diretores que começavam a chegar. Marcara uma breve reunião ao cair do dia de calor sufocante, porque era tempo de distribuir alvíssaras.
Na linha da frente, estavam homens da sua absoluta confiança. O Capitão Catela, seu companheiro de muitas lutas e enredos, o Capitão Maia Mendes, Diretor das brigadas de informação e combate aos traidores da Pátria, o Capitão Amorim, escorreito militar, admirador de Hitler, das práticas implacáveis das SS e da Gestapo. Possuía tacões na alma que batiam formidáveis em permanente atitude marcial. O coronel Carolino, talvez o menos capaz, mas tão devoto de Salazar que não era possível dispensá-lo da luta pelo engrandecimento de Portugal.
Deixou a janela, acendeu um cigarro e apontou para cima da secretária, onde se encontravam vários jornais e alguns telegramas, e anunciou o motivo da reunião:
– Chamei-vos porque, apesar do calor, hoje é um dia grande para a nossa instituição. A prisão dos terroristas que atentaram contra a vida de Sua Excelência, o Senhor Professor Doutor Oliveira Salazar não é apenas mérito de alguns. É uma vitória de toda a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado e, também, uma vitória de Portugal.
O coronel Carolino não se conteve e aplaudiu:
– Muito bem! Apoiado!
Agostinho Lourenço fez um gesto brusco, parando a proclamação, e continuou:
– O Senhor Presidente do Conselho agradeceu pessoalmente os nossos esforços e encarregou-me de dar os parabéns a todos.
Olhou os subordinados e, fixando Maia Mendes, enfatizou:
– Parabéns para todos, sem exceção.
O Diretor da Secção de Defesa Política e Social não conseguiu esconder o incómodo. Deveria ter sido o responsável pela descoberta da autoria do crime, mas o seu chefe avocara o processo, ainda antes de ter começado a investigação, e delegara as suas competências no Catela, Secretário-Geral da organização, sem qualquer experiência no combate a terroristas.
– Já devem ter lido os jornais de hoje. Estão aí em cima da minha secretária. Não há nenhum que não faça notícia com o nosso êxito. Somos primeira página em todos e com fortes elogios. – Apagou o cigarro e rematou com sobriedade: – Com elogios a mais para o meu gosto, diga-se. Capitão Amorim, não volte a exagerar. Precisamos de boa publicidade, mas não de propaganda. Isso é mister do António Ferro.
O Diretor não conteve a boa disposição.
– Os jornalistas são mais papistas do que o Papa. A notícia que enviei para o Coronel Matias, da Censura, não tinha tantos rodriguinhos. Transcreveram o que lhes mandámos e embelezaram com fantasias.
– Também vos queria informar de que recebemos felicitações de muita gente. Estão aí os telegramas. Chefias militares, comandos da PSP e da GNR, do governo inglês, do Chanceler alemão.
– De Adolf Hitler? – Perguntou Amorim, entusiasmado.
Agostinho não respondeu, continuando a conversa:
– E também de Benito Mussolini, do General Franco, da Falange. Resumindo, a ação que fizemos contra o grupo terrorista do Alto do Pina deu brado nos países civilizados. Estamos todos de parabéns.
As chefias da PVDE não contiveram o júbilo e aplaudiram em frenesi as palavras do seu líder.
Agostinho Lourenço aproximou-se de uma bandeja sobre a qual estava uma garrafa de vinho do Porto e encheu um cálice.
– Sirvam-se. Este momento merece um brinde.
Havia uma alegria quase infantil entre o grupo de oficiais. Desde o choque do atentado até àquele momento, haviam decorrido doze dias, em que as brigadas não tinham parado dia e noite, vasculhando as entranhas da cidade, prendendo a eito, mobilizando informadores, descobrindo pontas soltas, até chegarem aos cinco terroristas que se aquartelavam no Alto do Pina, paredes meias com a Quinta da Curraleira. Faltava apenas capturar um deles. Um tal José Horta, que se encontrava a monte. No entanto, os quatro autores confessos do atentado estavam detidos e o sacrifício da polícia política merecia aquele brinde.
Agostinho Lourenço ergueu o cálice e declarou com solenidade:
– Quando nos tornamos num exemplo para Portugal e para o Mundo, é justo que brindemos ao homem a quem devemos o renascimento da Pátria. Viva Salazar!
– Viva! – Responderam em uníssono.
E emborcaram o vinho de uma só vez.
* * *
Àquela hora da noite, a praça de táxis do Intendente começava a ficar vazia. O período de maior procura já minguava e os motoristas, terminado mais um dia de trabalho, regressavam a casa. Apenas Granja, com as portas do carro de praça escancaradas, ainda alimentava a esperança de um cliente que lhe salvasse a jorna. Picara a Estefânia, experimentara em Santa Apolónia. Aguardara, durante a hora do almoço, junto à estação do Rossio. Durante todo o dia, só conseguira dois fretes que mal chegavam para pagar o combustível e, fazendo o balanço do trabalho, concluía que ou surgia um cliente fora de horas, ou passaria mais um dia sem comer. Não era só o calor que massacrava Lisboa. A fome campeava pelos bairros, pelas vilas operárias, pelos pátios, multiplicando corpos esquálidos, crianças raquíticas, velhos exauridos. E Granja tinha fome.
O Chico Saloio parou o carro, atrás do automóvel do colega, e saiu na sua direção. Vinha transtornado.
– Já leste os jornais? – Perguntou de supetão.
– Quais jornais? Não tenho dinheiro para comer quanto mais para comprar jornais.
Chico Saloio mostrou-lhe O Século, que trazia dobrado na algibeira do casaco.
– Olha para aqui. A polícia política anunciou que prendeu os terroristas que fizeram o atentado à bomba, na Barbosa du Bocage, contra o Botas.
– Isso é uma boa notícia, não é? – Comentou Granja com indiferença.
O outro ficou exasperado ao ouvir a resposta.
– Granja, fomos nós os autores do atentado. Nós e o nosso grupo!
– Agora já não somos. Se a polícia política prendeu outros criminosos, eles é que sabem quem quis despachar o Botas. Não és tu!
– És parvo ou estás a desconversar?
– Nem uma coisa nem outra. Chico, qual é o teu problema?
– O meu problema é que eles prenderam inocentes. Inocentes, Granja! Esse grupo do Alto do Pina nem sabe quem nós somos. Pode ser gente com família, que tem filhos, que precisa de trabalhar para dar de comer aos seus, e aqueles filhos da puta prenderam-nos.
Granja não conseguiu evitar um sorriso sarcástico.
– Quer dizer, o teu grande problema é que não foste preso.
– Não digas disparates! – Respondeu Saloio, exaltado, e barafustou: – Claro que ninguém quer ser preso, mas fomos nós quem teve a ideia, que fizemos a bomba, que a colocámos no esgoto. Eu, tu, o Raul, o Vaz Rodrigues, o Fernando do Talho e por aí fora. Não foram estes desgraçados que vêm aqui no jornal.
– Isso é bom sinal. Sei que prenderam o Tassara e ele não falou.
Chico Saloio perdeu as estribeiras.
– Isto é bom sinal? Chamas a esta alarvidade bom sinal? Prender inocentes? Eh, pá, eu vou-me embora daqui.
Saiu, irritado, batendo com a porta, e foi um carro de praça zangado que acelerou pela Rua da Palma.
Granja ficou preocupado. As notícias deveriam ser um conforto. Afastavam-no, assim como aos seus amigos, do grupo de suspeitos, e transformaram-se num rebate de consciência para o Chico Saloio. Precisava de avisá-los. Talvez o Emídio Santana, que tinha maior ascendente sobre ele, o chamasse à razão. Ou o Fernando do Talho, amigo do peito.
Desistiu de esperar pelo cliente salvador. A angústia do amigo deixara-o inquieto. A notícia da prisão de um grupo de homens do Alto do Pina deveria ser motivo de conforto para todos. Talvez eles também quisessem matar Salazar, considerava Granja, e a polícia política caçou-os. Não era motivo para Chico Saloio entrar em desvario com sentimentos de culpa que o poderiam levar a um disparate.
Sabia onde encontrar alguns dos conspiradores com os quais partilhara aquela aventura falhada e tornava-se necessário que soubessem. Pôs o carro em marcha e dirigiu-se ao Café Marcial.
Emídio Santana estava na companhia de Vaz Rodrigues. Olharam em volta, inquietos, quando o taxista se dirigiu à mesa onde os dois homens petiscavam pão com toucinho curado, servindo-se de um jarro de vinho. Ficou deslumbrado ao ver comida e abancou, desesperado.
Vaz Rodrigues sussurrou:
– Não tínhamos combinado que não nos encontraríamos em locais públicos?
– É uma urgência e não sei o que hei de fazer. O Chico Saloio está desorientado e eu estou esfomeado.
Contou a conversa que tiveram no Intendente, enquanto se atafulhava de pão e toucinho. Ainda se justificou antes de terminar a tarefa que ali o levara.
– Não levem a mal, mas não como desde ontem de manhã.
Santana bebericou um pouco de vinho. Pensativo. Por fim, comentou:
– São nobres os sentimentos do Chico Saloio. É a costela católica que lhe dá o sentimento de culpa.
– Se fosse um bom católico, nunca se meteria num atentado contra o ditador. Como sabes, é apoiado pela Igreja. Antes de os oficiais das Forças Armadas lhe prestarem vassalagem por sair com vida do ataque, já os bispos tinham mandado rezar missas pelo milagre. O Salazar é o anjo bem-aventurado e quem se lhe opõe não é bom católico. – Adiantou Vaz Rodrigues com sarcasmo.
Granja, já mais calmo, reagiu com aspereza.
– Seja como for, não temos de nos entregar porque a polícia política é estúpida. Se acredita que foi este grupo do Alto do Pina que vem nos jornais, que acredite. Se o Chico Saloio continuar com pena dos inocentes que vá rezar pelas alminhas deles. Mas come e cala, que não estou para ser preso.
– E se não se calar? Imaginem que se vai entregar. – Alvitrou Vaz Rodrigues cada vez mais inquieto.
Granja voltou-se para Emídio Santana.
– O senhor conhece-o bem. Ele é um dos motoristas de confiança de malta como vocês que anda na política. Avise-o para ter juízo. Abre as goelas e corre o risco de levar um tiro na cabeçorra.
– Vamos com calma. Eu falo com ele. – Condescendeu Santana.
Granja bebeu o vinho que restava no copo do anarquista e afirmou com convicção:
– Isto só lá vai quando matarmos o porco. Não foi à bomba, vai a tiro. Eu já vos expliquei como pode ser feita a coisa. Desde que se mudou para São Bento, a única maneira de o caçar é à saída, metralhando o carro onde ele se desloca. Há uma casa em frente ao portão. Pode ser lá instalada uma metralhadora. Eu e o Arrinca despachamos o animal. Vocês compram a metralhadora e alugam a casa.
– Esse problema tem de ser resolvido mais tarde. – Avançou Vaz Rodrigues.
– Porquê? Estão com medo da polícia política?
– O pessoal que nos pode ajudar a arranjar dinheiro para uma operação dessa grandeza está fora. O Silva da Madeira está em Paris. O Silvino Sequeira foi para Barcelona e combate ao lado dos republicanos. O Costa e Silva está preso e o Girinho desapareceu. Não há quem arranje dinheiro.
Granja soltou uma gargalhada sarcástica.
– Fugiram todos! São estes os revolucionários que querem acabar com o Estado Novo. Grandes revolucionários, sim senhor. A vossa Frente Popular foge ao primeiro estoiro de uma bomba e deixa o povo a chuchar no dedo.
– Eu estou aqui. – Ripostou Emídio Santana.
– Por quanto tempo? – Perguntou, desconfiado, o taxista. Levantou-se e atirou à laia de despedida: – Trate do Chico Saloio. Meta-lhe juízo na cabeça antes que nela entre uma bala que ninguém gostaria de disparar.
Granja saiu, rápido, do Café Marcial. Pôs o carro de praça em movimento na direção da cavalariça onde dormia. Embora preocupado, comera o suficiente para descansar com algum conforto.
Quando chegou, acendeu a candeia de azeite, preparou as armadilhas para capturar as ratazanas, que lhe roíam a enxerga, e deitou-se. Talvez, no dia seguinte, conseguisse mais clientes.
* * *
O dia despertou sem nuvens e, às oito da manhã, o Sol já anunciava a vaga de calor que, mais uma vez, iria pôr a cidade a transpirar. José Horta atravessou a avenida e dirigiu-se ao plantão de serviço à esquadra da Polícia de Segurança Pública.
– Algum problema? – Perguntou o guarda, desconfiado.
– Importa-se de informar o Senhor Capitão Baleizão do Passo que está aqui o filho do Horta, que foi seu ordenança no quartel em Beja?
O guarda passou a informação para o interior da esquadra e não demorou cinco minutos a estar no gabinete do oficial.
– És filho do Horta?
– É verdade, senhor comandante.
– Lembro-me muito bem dele. Era um bom rapaz. Onde é que trabalha?
– O meu pai morreu, senhor comandante. A tuberculose deu-lhe cabo dos pulmões.
– Oh, que pena! – Exclamou o Capitão, desolado.
– Foi por isso que saí de Beja e trouxe a minha mãe comigo. Por lá, o trabalho era escasso e, dizia-se que em Lisboa havia falta de serventes e de pedreiros.
– E tens-te safado?
– Comecei a trabalhar como servente e, de há um ano para cá, sou mestre. Estamos a fazer uma obra no Areeiro.
– Muito bem. O que posso fazer por ti?
Horta tirou da algibeira do fato-de-macaco um Diário da Manhã amarrotado. Alisou-o e mostrou a notícia da prisão dos homens que atentaram contra Salazar.
– Não durmo há dois dias, senhor comandante. Sei que andam à minha procura para me prender. – Cresceu-lhe a indignação enquanto Baleizão do Passo lia o noticiário. – Isso que vem no jornal é tudo mentira. Ninguém dessa gente quer saber de política. Nem o Manel Pinhal, nem o António Silva, que são aqueles que conheço melhor, por serem pedreiros como eu. A vida deles é trabalho, do nascer ao pôr do Sol, e depois jogam às cartas na tasca lá do bairro. O único defeito que lhes encontro é beberem de mais. Não fazem mal a ninguém.
– E este Alfredo Elói?
– O senhor Alfredo tem uma camioneta e carrega entulho das obras para o aterro. O Jacinto, que vem aí no jornal, é seu ajudante. O rapaz não sabe ler nem escrever.
– Tu sabes ler e escrever? – Perguntou, curioso.
– Sei assinar.
– E política?
– Ó Senhor Comandante, pela sua rica saúde. Tenho vinte e quatro anos e trabalho que nem um galego para sustentar a casa. Quando era mais novo e vivia em Beja, e ia, às vezes, com o meu pai à taberna, ouvi um homem dizer mal de Salazar. Um outro, uma vez, quis impingir-lhe um jornal proibido. Já nem me lembro o nome.
– Seria o Avante?
– Talvez. Mas o meu pai, quando bebia um copo, gostava era de cantar.
A voz embargou-se-lhe de emoção, comentando, saudoso:
– Nesse tempo, eu também gostava de cantar. No Alentejo é hábito os homens cantarem juntos. Depois, ele morreu e eu nunca mais cantei. Aqui, em Lisboa, o costume é jogar às cartas. À bisca de três ou de nove, mas política, nada.
– E estes teus amigos?
– Esse meu amigo Pinhal diz uns disparates quando está com os copos. É mais revolta com a nossa miséria do que política a sério. Fala umas coisas da boca para fora contra Salazar, mas não faz mal a ninguém. É o vinho que lhe dá para embirrar. Nem cabeça tem para pensar em coisas sérias, quanto mais entrar num atentado à bomba.
Baleizão do Passo ficou impressionado com a espontaneidade do rapaz. E inquieto. Sabia que a PVDE não iria aceitar com bondade aquele depoimento tão sincero e o coração ficou mais apertado depois de ter perguntado:
– Vieste apresentar-te a mim, porquê? Não é a Polícia de Segurança Pública que está a tratar deste assunto.
– Porque o meu pai tinha muita estima por si. Falava sempre que era um homem sério e inimigo de injustiças. Foi por isso que decidi entregar-me ao senhor comandante.
– Infelizmente não sei como te ajudar, meu caro jovem. Não posso ficar contigo porque o caso é da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado.
– Da polícia política.
– Isso mesmo. Já lá trabalhei e devo informar-te de que deves esperar o pior. Existem por lá alguns artistas que nasceram sem coração.
– Não tenho nada a esconder, senhor comandante. – Respondeu convictamente.
Baleizão do Passo levantou-se e estendeu-lhe a mão amistosamente.
– Uma das minhas patrulhas vai levar-te à António Maria Cardoso. Não precisas de dizer que falaste comigo. Por consideração à amizade que tinha pelo teu pai, e porque me pareces bom rapaz, irei fazer uns contactos para perceber como é que tudo isto se pode resolver sem que passes por muitos trabalhos.
– Só lhe queria pedir mais um favor.
– Sim?
– Será que posso falar com a minha mãe antes de me levarem preso? Ela vai ficar perdida de medo, se não souber onde estou.
O oficial tornou a sentar-se. Pegou num lápis e disse:
– Dá-me o contacto dela e eu próprio lhe explicarei o que se passa.
Baleizão do Passo ficou inquieto. Os jornais apontavam o jovem como o organizador do ataque e possível ligação ao Komintern, a associação dos Partidos Comunistas de todo o mundo, que teria financiado a operação. Era demasiado novo e revelava uma franqueza tão espontânea que não conseguia imaginá-lo a liderar um grupo de terroristas. Voltou a ler as notícias que vinham n’O Século e no Diário de Lisboa. Um sorriso iluminou-lhe o rosto. Eram semelhantes. Procurou o Novidades e releu o que este publicara sobre o grande sucesso da PVDE. Não lhe restavam dúvidas. O artigo fora escrito pela polícia política e comandado pela Censura. Os mesmos verbos. A mesma ordem de identificação dos autores. Os mesmos panegíricos. Não havia dúvidas. A fonte produtora da notícia tinha nome. O Capitão Amorim, o homem encarregado da mediação com a Censura e com os jornais.
Baleizão do Passo conhecia os procedimentos. Quando, em 1933, foi criada a PVDE, fizera parte dos quadros durante os primeiros anos e estava a par das táticas de Agostinho Lourenço.
Decidiu-se. Não se encontra a verdade em notícias encomendadas. Vulgarmente são um embuste que procura fazer crer em factos construídos pelo interesse de um grupo e não como ressonância da realidade. Haveria de procurar, entre um dos seus antigos subordinados que continuavam a trabalhar na António Maria Cardoso, aquilo que se escondia por detrás de tão retumbante êxito policial.
* * *
Carolino era uma dádiva divina. Redondo, baixinho, cabelo negro puxado para trás e lisinho à custa de brilhantina. O bigodinho, ligeiramente levantado nas pontas, reluzia, à força de verniz. Teria à volta de quarenta e cinco anos, porém, os fatos cinzentos, o rigor das gravatas – parecia estar sempre de luto –, emprestavam-lhe um ar cinquentão. Apenas uma pincelada de cor na lapela. As armas do Mestre d’Avis, agora recicladas em emblema da Mocidade Portuguesa. Foi Francisco Guedes, o seu primeiro Comandante de Falange, quem lhe oferecera o emblema.
– Exiba-o com orgulho, meu caro coronel. Vamos moldar os nossos jovens no amor pela Pátria e pelos ideais do Estado Novo, à imagem e semelhança da Juventude Hitleriana. Estamos a construir um presente grandioso para lhes entregar um futuro ainda maior.
Almoçava com visível satisfação e monologava numa aparente conversa com a esposa, Albertina Ferraz.
– Estamos a viver dias históricos. Históricos, que os vindouros vão recordar como um sinal do Homem Novo. Falta prender apenas um dos terroristas que atentaram contra a sagrada vida de Sua Excelência. Falta um. Apenas um meliante! Isto merece um brinde. Não queres brindar comigo?
– Brinda tu. Estou a comer. – Respondeu ela com secura.
Carolino levantou o copo e, solene, proclamou:
– À Pátria!
Bebeu e Albertina comentou com rispidez:
– A Pátria não fica mais forte por fazeres barulho ao sorver o vinho.
– Eu sei que não te interessas pelos grandes feitos que estão a ser realizados no País. Apenas queres saber do tricô e do chá com as tuas amigas. Devias saborear este tempo que Deus nos entregou para vivermos. Termos Sua Excelência como farol que nos ilumina entre as trevas é uma dádiva divina. Portugal de Ourique e Aljubarrota renasce. Portugal dos Descobrimentos está, finalmente, a cumprir-se. É certo que perdemos o Brasil, mas com o rumo que as coisas levam não me admira que aquela fabulosa terra queira regressar às fileiras do Império. Os Brasileiros só tinham a ganhar se fossem liderados por Sua Excelência.
O entusiasmo era tal que, nem se apercebendo de que Albertina já tinha saído da mesa e recolhia a loiça do almoço, prosseguiu:
– Esta tarde espero que rezes comigo o terço pela saúde de Sua Excelência. Este atentado frustrado tem algo de sublime, de sopro divino que... – Interrompeu a dissertação quando reparou que a mulher estava na cozinha e gritou: – Albertina... Albertina! Faço conta contigo para as orações da noite. Estás a ouvir-me?
Ela surgiu, crispada.
– Pára de falar em Salazar. Pára, pela tua rica saúde! Eu já não suporto essa conversa. Eu já não o sei que hei de fazer de mim porque nesta casa não existe outro tema, outra preocupação. Nada vale! Apenas Salazar, Salazar, Salazar. Os meus pais não me educaram para aturar esta maluquice e eu estou farta. Farta!
Carolino enfrentou-a, surpreendido.
– Que falta de respeito é esse? Sou teu marido... sou...
Estava apoplético com a insurreição da fêmea. Albertina aproveitou para dizer tudo o que lhe ia na alma.
– Tu é que não me respeitas. Esqueceste-te do juramento que fizeste no altar. Sou a tua mulher e não a tua cadela que ouve e não responde. Casámos há dez anos. Há seis que te apaixonaste por esse homem e não vês mais nada. Nada mais existe na tua vida. Eu desapareci, sou um adorno que tu queres ao pé de ti para rezar terços todos os dias pelo amor da tua vida. Chega, Carolino! Reza por ele, dorme com ele, mas não me metas nos teus delírios. Puta que pariu esse Salazar!
– Tu não blasfemes. Tu não blasfemes! Proíbo-te de falar assim na minha casa. – Gritou, descontrolado.
– Na tua, salvo seja. Foi o meu pai quem a comprou para nós vivermos. – Disparou com rispidez.
– Na nossa casa! – Corrigiu, mais manso, e acrescentou, acusatório. – Somos casados com comunhão de adquiridos e, se o teu pai regressasse da tumba para te ouvir falar desse modo sobre Sua Excelência, morria outra vez!
– Não digo mais nada. Vou ao Grandella buscar ceroulas que comprei para ti. Andas todo aperaltado por fora e sempre com as ceroulas cagadas. Se o teu Salazar soubesse que não limpas o cu, não sei se não te despromovia.
Saiu. Carolino estava tão atulhado de indignação que não conseguiu articular uma palavra que fosse.
Furioso, atirou o guardanapo para a mesa e vestiu o casaco. Irritava-o a indiferença da esposa perante a luz que emanava da estrela cadente que iluminava a vida dos Portugueses. Porém, via-se obrigado a engolir as irreverências da mulher por uma única razão: a mensalidade que ela recebia por disposição testamentária era quase o dobro do seu ordenado.
Carolino, levado pelo entusiasmo nacionalista, militara, durante a República, nas ideias que davam corpo à Cruzada de Nun’Álvares Pereira. Antes, fora encantado pelo carisma do Presidente Sidónio Pais, o homem lúcido e alvo, para quem a autoridade e a disciplina eram valores sagrados. Porém, fora um sonho bruscamente interrompido pelo bárbaro assassínio na estação do Rossio.
Carolino rapidamente fez o luto para se devotar às duas maiores cabeças da revolta contra os desvarios republicanos. Filomeno da Câmara e Sinel de Cordes, os líderes do caminho que abria esperanças para terminar a anarquia em que se finava o Regime nascido em 1910, tornaram-se verdadeiros ídolos do jovem oficial do Exército. Ainda tenente, alinhou no Golpe dos Generais, em 1925. Nem pensou duas vezes ao caminhar para a Rotunda para se juntar aos revoltosos. Nesse tempo, Carolino ainda colocava a generosidade à frente do seu destino, e achou que poderia morrer pelos valores em que acreditava.
No entanto, correu mal aquele sonho de liberdade cristã, interrompido pelo almirante republicano Pereira da Silva, Ministro da Marinha, e o tenente, assustado, entregou-se à prudência dos sábios, pedindo transferência para o Norte do País. Sumiu-se de Lisboa.
Conheceu o Temperado, um homenzarrão carregado de gordos anéis e corrente de ouro pendente da jaqueta, numa festa. Logo na apresentação ficou a saber o calibre do poderoso comerciante de vinhos do Porto.
– És católico ou és da Maçonaria? Comigo, essa coisa de homens com aventais não dá.
– Católico, Senhor Barão. Católico da Cruzada de Nun’Álvares Pereira e adepto fervoroso de Primo de Rivera, esse grande descendente direto dos mais honrados cruzados que batalharam pela fé cristã.
Temperado encheu o peito e descarregou uma valente palmada amigável no ombro do tenente, que empalideceu com a dor.
– Temos homem. É desta fibra que se fazem os portugueses autênticos. Estás do lado certo. Do lado certo, sim senhor. Mereces conhecer a minha filha.
Chamou por ela:
– Albertina, ó Albertina. Vinde cá!
A rapariga era linda. O corpo fora feito por Rodin e o rosto saíra das mãos de Caravaggio. A elegância, a sensualidade, revelavam-se no andar, e no olhar negro cintilavam miríades de diamante. Os lábios eram, de certeza, dois favos de mel.
Carolino cumprimentou-a com uma vénia e pareceu indiferente a tamanha beleza. Mais atento ao Barão Temperado, que regurgitou:
– Tenho outra fêmea mais velha, mas já com macho. Um morcão da Régua, que tem por lá umas quintas e é pouco esperto. Mas devoto! Esta está fadada para a entregar a um oficial que guarde Deus no coração e a Pátria na alma. É um capricho meu. Quero ter uma farda na família. Já viste? Boas carnes. Isto é da melhor cepa, digo-te eu.
Albertina sorriu, submissa, ao discurso do pai e mostrou-se ao jovem tenente em enlevada provocação. Carolino não reagiu. Nunca pensara em casamento e, por mais bela que fosse a criatura, estava fora dos seus horizontes apaixonar-se pela filha de um comerciante de vinhos, labrego, que inchava quando o tratavam pelo título que o seu avô comprou no tempo dos governos liberais.
Porém, foi recusa de pouca duração. Passados alguns minutos, o Capitão Alves, seu comandante de companhia, segredou-lhe:
– Reparei que o Temperado te apresentou a filha. A moça é linda!
– É verdade. – Respondeu sem entusiasmo.
– Carolino, olhas para ela e vês a porta da fortuna. Está nas tuas mãos abri-la e abancares à mesa dos eleitos.
– Como? – Perguntou, sem perceber.
– O Temperado é um dos homens mais ricos do País. Odeia a República e está grávido de contos sobre reis e princesas. Foi um dos grandes apoiantes da Monarquia do Norte e é tu cá, tu lá com o Hipólito Raposo, o Paiva Couceiro, o Conde de Azevedo. Mete dinheiro com fartura no Movimento Integralista e sonha com uma nova Monarquia que faça dele marquês.
O espanto de Carolino ia engrossando conforme o capitão lhe segredava a genealogia da bela jovem.
– Ganhou uma fortuna enorme, exportando vinho do Porto. Tem um palácio em Gaia, outro aqui, no Porto, e ainda um Prémio Valmor, em Lisboa. Este ano, quando o Banco Comercial de Lisboa foi integrado no Espírito Santo, dizem os jornais que ganhou milhões e tem massa a sério no Português do Atlântico e num banco inglês cujo nome não me lembro. Mija moedas e caga notas. – Rematou o currículo do Barão com a tirada assassina: – Tem aquela filha no mercado à espera do felizardo que vá meter as mãos nos potes de ouro do homem. Abre os olhos, rapaz. Abre-me bem esses olhos!
Foi a mais fabulosa declaração de amor que um capitão poderia fazer a um tenente e, de imediato, sentiu que estava profundamente apaixonado por Albertina. Fez continência ao seu superior e durante essa noite, e todos os dias que se lhe seguiram, cortejou a jovem como um verdadeiro fidalgo lusitano.
Poucos meses depois, pedia a mão da sua amada ao Barão. Levou-a e como garantia foi promovido a capitão, graças ao poderio invisível do futuro sogro, que manobrava como uma serpente entre os poderes da decrépita República. Foi o próprio Temperado quem, em finais de maio de 1926, lhe disse:
– Temos de adiar o casamento por uns tempos. Amanhã vou fazer de ti um herói. Prepara-te para, ainda hoje, ires comigo a Braga.
Ficou surpreendido quando descobriu que Cunha Leal era o convidado especial do almoço, no Bom Jesus, onde entrou lado a lado com o futuro sogro. Conhecia-o, de vista, desde os tempos do saudoso Sidónio Pais, não lhe causando qualquer surpresa a tareia de língua que deu em Afonso Costa e no Partido Democrático, o brio com que flagelou Ginestal Machado e o ácido que verteu sobre Tamagnini Barbosa.
Não sentiu que estava a lutar pela fortuna do Barão quando o acompanhou no aplauso frenético com que foi recebido o discurso que clamava pelo fim da Ditadura democrática imposta à República Velha e profetizava o início de uma nova Idade.
Só se apercebeu de que o banquete trazia prenda quando Temperado se aproximou do general Gomes da Costa, outro dos mais notados comensais, arrastando Carolino por um braço.
– Manel, este rapaz é o noivo da minha Albertina. Quero que o ponhas no sítio certo quando chegar a hora de avançar contra a malandragem que, em Lisboa, não pára de nos roubar. Já é capitão. Não será pessoa de grandes talentos, mas porta-se bem. Ajuizado. É cá dos nossos!
A paixão nacionalista e a vontade do Barão fizeram dele um dos vencedores do 28 de Maio. As confusões militares que se seguiram ao golpe converteram Carolino num tenente-coronel pujante de vaidade.
No ano seguinte, cumpriu-se o sonho – casava com a fortuna do pai de Albertina, em festa de arromba, presidida pelo bispo, vinho a jorros, vitelos no espeto e tiradas nacionalistas, que celebravam a união dos cônjuges e as virtudes da Ditadura militar.
Durante a boda, o sogro puxou-o para um canto do imenso salão de festas, já meio toldado, e leu-lhe ao ouvido o testamento que deixava como guia para a ação:
– Se eu sonho que tratas mal a minha filha, se eu sei que te passas para o lado dos reviralhistas, se eu desconfiar de que és beato por fora e um diabo por dentro, capo-te! – Deu-lhe a habitual palmada violenta no ombro e sublinhou: – Capo-te mesmo!
O nubente nem por um segundo duvidou do intuito do animal. Ainda a esfregar a omoplata, dorido pelo brutal cumprimento, jurou a si próprio que Albertina seria sempre tratada como uma rainha. Nem lhe era difícil. Havia um mistério nos prazeres do coronel que facilitava a gentileza. Não apreciava mulheres. Nem que fosse um espadão!, no dizer do seu antigo capitão, agora seu subordinado. Nem aquela jovem bela, elegante e voluptuosa que Temperado lhe entregara conseguia despertar entusiasmo. Por mais redondos e rijos que fossem os seios. Por mais esbelto que fosse o corpo. Por mais lânguidos que fossem os olhos e os lábios. Nenhum atributo tocava a alma do nobre oficial apoiante da Ditadura. Descobriu esta indiferença, ainda adolescente, na roda de amigos que ferviam de lubricidade, desvairados, masturbando-se, fazendo sexo com as estrelas de cinema no mundo fantástico da imaginação, acariciando as pernas de Bebe Daniels, explorando os lábios de Lillian Gish, as mamas de Blanche Street, que lhes eram oferecidos através das pudicas páginas da revista ABC.
Já assentara praça quando reconheceu onde estava o prazer que o fazia salivar, descompassar o coração, transpirar de desejo.
Foi no primeiro Natal que passou fardado. À espera do jantar de família, uma priminha que andava na terceira classe correu para ele, saltou-lhe para o colo e pediu, suplicante:
– Primo, contas-me um conto?
O corpo da miúda contra o seu, o desprendimento dela, expetante, para saborear a história, despertaram um súbito impulso que a aconchegou, agarrando-lhe as pernas e enclausurando-a num abraço. Conforme desenrolava as aventuras da Gata Borralheira, um estranho calor invadiu-o, o marsapo engrossou e um prazer nunca sentido aqueceu-lhe o baixo-ventre, mais deleitado ele do que a menina, forçando-o a precipitar o encontro do pé da pobre enteada com o sapato de cristal, enviado pelo príncipe apaixonado, e o remate em que viveram felizes para sempre, porque as calças da farda estavam molhadas.
Esse Natal foi o dia da descoberta da sua sexualidade. Carolino nunca mais deixou de procurar crianças, um amor infinito que o fazia viajar por todos os mares do céu dos pedófilos.
Concentrou-se ferozmente para cumprir o seu dever marital na noite de núpcias. Imaginou Albertina criança a correr para os seus braços, evitou beijá-la nos lábios, que lhe sabiam mal, transpirou pelo esforço para conseguir penetrá-la. Cada movimento, cada toque, todas as carícias não lhe traziam qualquer prazer. Entendeu a manobra como trabalho e dever militar. A noiva soltou meio gemido, julgando que estava no princípio da sua história de amor. Foi uma ilusão! Os seios dela esperavam a segunda leva de carícias. Em vão. O seu novel marido já dormia.
Desde essa noite, com disciplina castrense, o coronel Carolino dispensava-lhe, todos os meses, o mais breve minuto de atenção. E dormia.
Até que se apaixonou por Salazar. A partir de então, dedicou todo o seu tempo à Causa. Imperativo bem mais grandioso do que resfolegar em cima da mulher.
* * *
O Agente Almeida Júnior observava com atenção o pedreiro numa sala da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. A luz entrava por duas pequenas frinchas no alto das paredes sujas e um candeeiro reforçava a iluminação. Não havia mobiliário com exceção das duas cadeiras e uma secretária velha encostada a uma parede. Mais parecia um velho pardieiro do que um gabinete para interrogatórios.
José Horta falava com convicção, sem evitar perguntas, repetindo com firmeza que nem ele nem nenhum dos seus amigos estavam envolvidos no atentado.
– É isto, senhor Agente. Não fiz mal a ninguém e muito menos lidei com bombas.
– Os seus amigos confessaram o crime. O António Silva foi o primeiro.
– O Tóino está sempre bêbado. Ele nem sabe ler, nem escrever. Mal deixa o trabalho, a única coisa que lhe interessa são os copos. – Protestou o detido.
– O Jacinto também é bêbado? Ele disse o mesmo e contou que estava com eles quando colocaram a bomba na Barbosa du Bocage.
– O Jacinto trabalha para o senhor Alfredo. Aparecem de vez em quando lá na taberna para beberem uns copos e jogar às cartas.
– Pior para si, é que todos eles dizem que você é o homem que faz a ligação com o Partido Comunista.
Horta cambaleou de espanto.
– Eu? Eu??? Isto só pode ser um pesadelo. Esta conversa não faz sentido, senhor Agente. Não sei onde é essa avenida onde a bomba estoirou e nunca vi uma coisa dessas na minha vida. Quanto mais ser comunista. Eu não sou nada, senhor Agente. Não tenho estudos. Vivo com a minha mãe, entrego-lhe todo o dinheiro que ganho e ela é que me dá uns trocados para beber um tinto ou um café.
– A sua mãe trabalha?
– Faz bolos em casa que depois vai vender às senhoras que moram na Graça. Desde que o meu pai morreu que vivemos assim. Trabalho e mais trabalho. Nem tive tempo para acabar a escola. Por amor de Deus, senhor Agente. Comunista? Isso é uma coisa perigosa, não é? – Perguntou com os olhos marejados de lágrimas.
Almeida Júnior encarou-o de frente.
– É um grave problema, meu caro José Horta. Temos connosco quatro presos e quatro depoimentos que o implicam diretamente no atentado. Deixe-me dizer-lhe que todos confessaram ter sido você o homem que mexeu os cordelinhos para matarem o Senhor Presidente do Conselho.
Pigarreou e abriu o jogo.
– A coisa é bem simples. Ou me conta a verdade, e esta é uma conversa decente entre dois adultos, ou continua a dizer que os seus amigos mentiram e nem adivinha a tempestade que está prestes a cair sobre si.
– Qual tempestade, senhor Agente? Eu juro-lhe por tudo aquilo que há de mais sagrado que não sei nada de bombas, nem atentados. Como é que eles podem ter confessado uma mentira dessas? Como?
– Quando chegar a sua vez, vai perceber que nesta casa as confissões são mais pródigas do que aquelas que se fazem, na igreja, de joelhos junto ao confessionário.
O rapaz não percebia as palavras de Almeida Júnior. A conversa era tão estranha que nem entendia como poderia cair sobre eles tão sinistra suspeição. José Horta puxava o cabelo, desorientado, incapaz de se defender do absurdo juízo sobre o seu comportamento.
– Ó minha Nossa Senhora! Ó minha Nossa Senhora! – Implorou com as mãos agarradas à cabeça.
Foi nesse momento que entrou o Agente Gonçalves. Foi com jovialidade que cumprimentou o colega e o Horta.
– Então, o nosso arrependido já explicou tudo?
– Arrependido? – Perguntou o pedreiro sem perceber.
– Foste entregar-te à PSP. Só pode significar que te arrependeste do crime que cometeram.
– Não fiz nada para me arrepender, senhor Agente. Fui entregar-me porque me disseram que a Polícia andava à minha procura e quero esclarecer tudo. Eu estou inocente dessas coisas graves de que os senhores falam.
Gonçalves era entroncado a dar para o baixo. Ao escutar José Horta, o rosto fechou-se e dos olhos saltaram chispas de fogo.
– Começas mal. Se é esse o caminho que escolhes, estamos mal. – Murmurou, com secura.
– Juro pela alma do meu pai, meu senhor. – Clamou o preso.
O espantoso murro que disparou fez Horta cair da cadeira.
– Aqui respeitam-se os mortos. Não são permitidos falsos juramentos. – Gritou e carregou com o pé contra o pescoço do rapaz.
Almeida Júnior fechou o bloco de notas, informando o colega:
– Tenho expediente para despachar.
Saiu, constrangido. Impressionara-o a espontaneidade de José Horta, a simplicidade do depoimento, resposta pronta sem escolher palavras e, sobretudo, a ignorância política. Não era o primeiro do grupo do Alto do Pina que o deixara inquieto. Agora, que estavam os cinco detidos, surgia um padrão que não era possível ignorar. Com exceção de Alfredo Elói, que era o mais diferenciado no que respeitava a bens materiais, viviam miseravelmente, limitados no conhecimento, incapazes de um juízo crítico sobre a sua condição. Todos mergulhados na obsessão do trabalho, de não perderem os tostões, por mais magros que fossem, para garantir a sobrevivência. Ainda por cima, o jogo da sueca e o vinho, na tasca que dava para a Quinta da Curraleira, eram paixão que não libertava o espírito para outras preocupações. Não compravam jornais, sinal de maior indiferença, aproveitando para leitura os restos de imprensa que ficavam abandonados no tabernáculo das bebedeiras. Agora, o testemunho daquele que os seus chefes consideravam o organizador do atentado deixara-o mais angustiado. Qualquer coisa não batia certo.
Gonçalves arregaçou as mangas e deu um pontapé no ventre de Horta, que se dobrou roído pelas dores.
– Vais contar tudo. Aquilo que sabes e aquilo que não sabes. Põe-te de joelhos, meu cabrão, e ficas nessa posição até te portares como um homenzinho. Temos provas mais do que suficientes para atirar contigo, e com os teus amiguinhos do Alto do Pina, para o Tarrafal, portanto não vou sujar as mãos nas tuas trombas. De joelhos, meu cabrão!
* * *
As provas que garantiam a absoluta convicção ao Agente Gonçalves, e motivo para torturar José Horta, eram frescas. Ainda não tinham uma semana de vida e nasceram na noite em que foi preso o grupo do Alto do Pina. O informador indicara um tal Pinheiro ou Pinhel como um dos mais ativos membros dos terroristas. A PVDE procurou sofregamente nos ficheiros e encontrou um Pinhal, que já passara pelas mãos dos esbirros há algum tempo. Hesitaram. A ficha indicava que tinha sido preso durante a Revolta da Marinha Grande, três anos antes, que era serralheiro e vivia em Leiria.
– Temos um Pinhal.
– Vê melhor as fichas. O informador disse que se tratava de um Pinhel ou Pinheiro.
– O mais parecido é Pinhal.
– Então, é o Pinhal!
– Tens a certeza?
– Se a ficha indica que temos um Pinhal, o homem não se chama nem Pinheiro, nem Pinhel. É o Pinhal!
– Porquê?
– Porque somos nós quem diz se é suspeito ou não é. O nome pouco importa.
Foi decidido que era o mesmo meliante. Embora a profissão fosse diferente – a informação que chegara dava-o como pedreiro – e não houvesse certeza sobre o nome ficou decidido que era o homem a procurar.
Infelizmente, não havia indicação de que era um bêbado dedicado. Dono de um paladar diversificado, que ia do bagaço ao vinho tinto, do branco velho ao vinho branco, apreciador de zurrapa e água-pé.
Quando o sentaram na sala de interrogatórios, Pinhal atingira o pleno período de fermentação acelerada, nem imaginando onde se encontrava.
Com ele estavam Almeida Júnior e Gonçalves. Observavam-no a cambalear, quase a dormir ou, talvez, prestes a entrar em coma.
Gonçalves deu-lhe duas estaladas.
– Não durmas, estás a ouvir?
Sorriu demente e respondeu com a voz arrastada:
– Dormir. Quando estou com a cadela gosto de dormir.
– Então, é assim. Sabemos que quiseste matar o Doutor Salazar.
– Matei. Por acaso, matei e matava outra vez esse grande corno.
Dois valentes murros puseram termo à dissertação.
– Tem respeito por Sua Excelência! – Impôs Gonçalves, autoritário.
– Por Sua Excelência tenho toda a consideração. Pelo Salazar, não. E não precisa de bater que eu conto qualquer coisa.
– Agora estamos de acordo. Não te bato e tu vais dizer tudo o que sabes.
– Sua Excelência quer que eu fale de quê? Primeiro, uma pergunta. Sua Excelência não leve a mal. Não há um copo de tinto nesta casa? Com um tinto a coisa escorria melhor.
Gonçalves fez sinal a Almeida Júnior para que fosse buscar vinho. A seguir, sentou-se à frente de Pinhal.
– Então, vamos lá começar. Quem é que foi contigo fazer o ataque na Barbosa du Bocage?
– Sua Excelência desculpe-me, mas não conheço tal pessoa. Não andei ao murro com nenhum Barbosa. Pelo menos que me lembre. – Curioso, interpelou o Agente: – Ou andei?
– Barbosa du Bocage é o nome de uma avenida, bêbado de merda.
– Ah, bom! Se é uma avenida devo ter lá estado. Quem me acompanha nessas aventuras é o Ti Alfredo, o Horta, o Tóino também gosta de ir e, de vez em quando, o Jacinto também aparece.
Almeida Júnior entrou com um copo de vinho e o rosto de Pinhal iluminou-se.
– Aqui está. Se contares toda a verdade, vou buscar mais.
Bebeu generosamente e disse com grande satisfação:
– Eu conto tudo. Comigo, é sempre a andar. Aqui entre nós, só embirro com o Salazar. O resto é tudo boa gente. Sempre bebi uns copos, mas o Tóino é mais bêbado do que eu. Tchiiiii! É cá cada cadela!
Pinhal transpirava álcool. Arrotou e emborcou o que restava no copo.
– Esse António também alinhou com vocês no atentado? – Quis saber Gonçalves.
– O Tóino alinha sempre. Eu sou pedreiro e só depois é que sou bêbado. O Tóino é ao contrário. Sempre com sede, sempre, raio de homem!
Gonçalves não o deixava deambular e tornou ao que lhe interessava.
– Vamos lá ver. Foste tu, o Horta, o António, o Alfredo e o Jacinto.
– É verdade, Sua Excelência.
– Pertences ao Partido Comunista? – Perguntou Almeida, deveras inseguro com a alucinação do bêbado.
– Gosto. Não desfazendo, gosto, sim senhor.
– Quem é que do vosso grupo faz parte do Partido? – Gonçalves ia tomando notas sobre a conversa.
Pinhal riu-se e babou-se ao mesmo tempo.
– Não se diz partido. Sua Excelência também está com os copos. Diz-se partida! Partidas de sueca. Fazemos cada jogatana. O nosso desporto é jogar às cartas e dizer mal do Salazar, esse cabrão de merda, que, se o encontrasse, matava-o outra vez. Ai, matava, matava!
Estendeu o copo, pedindo mais vinho e Almeida Júnior sussurrou para Gonçalves:
– O tipo está perdido de bêbado. Será que tem consciência do sítio onde se encontra?
– Não sei. Mas que vai confessando, não há dúvida. E não foi preciso dar-lhe umas lambadas. É aquilo que se chama uma confissão livre e espontânea. – Concluiu, satisfeito com a erudição que acabara de expor.
Almeida Júnior não ficou convencido e testou-o.
– Oiça lá! Você sabe que está na sede da Polícia de Defesa e Vigilância do Estado?
Pinhal tornou a estender o copo para que lhe servissem mais vinho e declarou com satisfação:
– Isso é boa gente. Boa gente, sim senhor! Tenho um primo na Guarda Republicana. Está na terra. Boa gente, sim senhor!
O Agente recebeu o copo e o entusiasmo arrefeceu. O pedreiro não confessava. Delirava sob a força do álcool.
– Onde é que moram estes teus amigos que fizeram o atentado? Este Tóino, o Jacinto e por aí fora? – Inquiriu Gonçalves.
Foi efusivo na resposta.
– Tudo gente do Alto do Pina, Sua Excelência. Viemos sei lá donde, uns do Norte, outros do Sul e caímos todos no Alto do Pina. – De repente, ficou ansioso. – Não há mais vinho? Estou ressequido por dentro. Podemos molhar a conversa?
Gonçalves levantou-se, recolhendo o bloco de notas. Ordenou ao colega:
– Vai buscar mais vinho para este animal. Tem ainda muita coisa para explicar. Eu já volto.
Dirigiu-se à sala onde o Chefe Mateus Júnior interrogava outro dos detidos e fez-lhe sinal para falarem a sós.
Quando se aproximou do Chefe, este perguntou, ansioso:
– O teu preso abriu-se?
– Está muito bêbado, mas contou tudo. Queria mais vinho, demos-lhe e a boca dele transformou-se numa torneira. Confessou que é comunista e deu o nome dos quatro cúmplices.
– Boa! – Exclamou Mateus Júnior, entusiasmado, e desabafou: – Basta um falar que os outros vão por tabela. Assinou a confissão? É que depois basta copiar e assinam todos, nem que seja a toque de varapau.
– Vou escrevê-la agora, para não meter aquilo que não faz falta. Vai assinar, nem que para isso emborque um garrafão de tinto.
Riram os dois, bem-dispostos. A bufadela do informador acertara no alvo.
– Não corremos o risco de se calar quando estiver sóbrio? – Mateus Júnior ainda estava desconfiado
– Já foi longe de mais. Não tem maneira de voltar atrás.
O Chefe não se conteve e abraçou o subordinado.
– Esta é uma grande noite das nossas vidas. Apanhámos os filhos da puta. Vou informar o Senhor Capitão Catela!
Não tinha dúvidas, pensou enquanto se encaminhava para o gabinete do Secretário-Geral, o vinho não só dava de comer a um milhão de portugueses como era um dos grandes guardiões do Estado Novo. Graças às suas virtudes, o Pinhal abriu o coração em defesa da Pátria, ele que a tentou trair no momento em que fizeram explodir a bomba.
* * *
A tasca do Tibornas situava-se na esquina da Travessa do Forno do Torel, a meia dúzia de passos da sede da Polícia de Investigação Criminal. A atmosfera cheirava a azedo e o soalho estava adubado com serradura, que sorvia a gordura e os restos de vinho que ficavam pelo chão. O balcão era alto, de mármore, com odor avinagrado e, nos fundos, três toneis com torneira de madeira debitavam o álcool que os clientes exigiam. Pela sala escura espalhavam-se meia dúzia de mesas e cadeiras derrengadas, que tinham conhecido os seus melhores dias antes da chegada da República, e sobre o balcão, cobertos com redes, habitavam vários pratos de vitualhas. Com realce para o peixe frito que Tibornas, pelas manhãs, cozinhava numa enorme frigideira.
Não primava pelo asseio. Nem a taberna, nem o dono. Quer dizer, dono é apenas uma forma de dizer. Quarenta anos atrás, a venda nascera, sob os auspícios do genuíno proprietário, com o nome de Ximenes. Viera nas levas de galegos que demandavam Lisboa, fugindo da fome que varria a Galiza. O espanhol trazia um sonho consigo – fazer vida como comerciante de vinho e de petiscos.
Depois de andarilhar a cidade, nos primeiros anos, servindo de moço de fretes, foi amealhando tostões. Roubava fruta pelas quintas em volta da cidade, tasquinhava aquilo que as criadas de servir lhe davam, quando abastecia as casas com água, alombada dos vários chafarizes. Passou frio, dormindo ao relento nas vielas mais abrigadas, nos dias de maior calor refrescava-se em Xabregas, fazendo sacrifícios infinitos ao serviço do pé-de-meia e do sonho que trouxera da Galiza.
Encontrou o espaço nos dias de turbulência da chegada da República. Uma pequena cavalariça abandonada, cujo dono alugava por meia dúzia de réis e com a exigência, essa indiscutível, de parar a praga de ratos que infestava todo o prédio. Foi trabalho forçado para o galego. Eram às centenas. Devoravam as madeiras carunchosas dos tetos, subiam aos pisos superiores com mais à vontade do que os inquilinos, verdadeiros bandos de predadores, grandes e gordos, que não havia gato que lhes fizesse frente. Chegou a matá-los a pontapé, tal era a fartura de roedores, e montou a chafarica.
A clientela cresceu aos poucos. Gente pobre que ia visitar familiares a São José, funcionários públicos de baixas rendas, serventes, artesãos da Calçada de Sant’Ana, um ou outro taxista, arrais do Tejo e alguns vendedores ambulantes. Com o tempo, o negócio cresceu e Ximenes decidiu contratar um rapaz que o ajudasse na refrega do trabalho. Não tinha tempo para ir buscar carvão para revenda, nem força, que a idade ia pesando, para acarretar as pipas de vinho que chegavam com mais frequência. Assim, surgiu Tibornas no pardieiro, que, na época, ainda não cheirava a azedo. O galego quis saber alguma coisa da vida do candidato a ajudante e Tibornas não se coibiu de vastas explicações sobre o passado heroico.
Que esteve uma temporada no Aljube. Coisa de política. Do tempo em que a República parecia ter enlouquecido e se prendiam justos e pecadores. Que na noite trágica da Camioneta Fantasma, com mais um grupo de amigos, fizera frente aos marujos que acabaram por tirar a vida ao grande Machado dos Santos, ao primeiro-ministro António Granjo e a mais não sei quantos. Que foram dominados pelos selvagens fardados que cometeram tal barbaridade e que, sem julgamento, os enfiaram na cadeia. Foram dois anos de injustiça, suplicando a Deus que o livrasse do pesadelo. Que foi Ele quem o salvou através do capelão, homem virtuoso, que intercedeu junto do Diretor da cadeia. E, agora, ali estava suplicando emprego, desiludido com a política e com a justiça dos homens.
Ximenes acreditou nas lágrimas do Tibornas e acolheu-o como ajudante. Nunca soube que acoitara um dos mais célebres burlões que a cidade conheceu. Possuía um dom natural para contar histórias que aguçavam o apetite das vítimas, escolhidas a olho. Que ganhara a lotaria, mas não tinha tempo para ir levantar o dinheiro, por causa da aflição com a sua querida avó, que estava entre a vida e a morte, na cidade do Porto, e precisava de embarcar no próximo comboio, se a quisesse ver com vida. Que era tanto o desespero que não se importava de trocar o prémio por qualquer coisa que a vítima tivesse com ela, fosse dinheiro ou o relógio. Talvez o anel. Qualquer coisa que lhe desse para comprar o bilhete que o levaria para o último abraço à mulher que o havia criado, pois era órfão. Também podia ser o outro anel que tinha no dedo da mão direita. O prémio da taluda valia dez vezes mais.
Esta era a fórmula para atacar em Santa Apolónia. No Jardim da Estrela, sítio de namorados e casais distraídos, desenvolvia outra receita. Trabalhava com o paco. Um grosso maço de notas de vinte escudos. Juntinhos, bem atadinhos, embrulhados, apenas com uma ponta rasgada por onde se antevia a resma de dinheiro. Não sabia a vítima que só a primeira das notas era verdadeira. As restantes não passavam de folhas de jornal cortadas a preceito, de tal forma ajustadas que até a mais atenta das criaturas era capaz de jurar que ali estavam cinco contos. Ou mais. O Tibornas chamava a atenção da vítima.
– Olhe-me para isto!
Apontava para o paco, caído no chão, vulgarmente junto a um dos bancos do jardim. E começava o negócio, medindo a gula do otário. Dividiam, não dividiam, não divido que eu vi primeiro, pronto!, até lhe dou o maço de notas, mas o que é que me dá em troca? No mínimo essa corrente de ouro com o relógio e o dinheiro que tiver na carteira. Sou tonto, mas que se lixe. Fica rico e eu apenas com uns trocos. Então? Fazemos negócio? Pronto! Esmifrado o desgraçado, castigado por ter cometido o pecado da cobiça, Tibornas partia e o penitenciado afastava-se, confortado, apertando o maço de notas falsas contra o peito.
Ganhou fama e a Polícia tomou-o de ponta. Não havia burla na cidade de Lisboa que não fossem atrás dele, forçando-o, à bastonada, a devolver pertences dos pecadores e a passar largos meses na cadeia. Foi essa fartura de celas, de guardas a distribuir pancada, de rancho feito de água chilra, couves e lesmas que o converteram.
Fez amizade com o patrão Ximenes. Quando fechavam a tasca, bebiam, jogavam à bisca de três e conversavam sobre as memórias dos dias já passados.
Ximenes recordava a meninice ruim, pastoreando rebanhos, nas serranias de Pradocabalos até Fornellos de Filoás, o pai de picareta em punho, abrindo poços à procura de água até jorrar sangue dos pulmões, a mãe, que domesticara a paciência à monotonia do tear, trabalhava a lã dos rebanhos.
Tibornas, em retribuição, contava histórias de inventar. De quanto sofreu em La Lys, ao serviço do Corpo Expedicionário, rebentando-lhe bombas a dois palmos do nariz. Que salvara o soldado Milhões, quando este já era herói e caiu numa emboscada montada pelos alemães para se vingarem do português. Que estava mesmo ao lado de Sidónio Pais, lá em baixo no Rossio, quando o mataram como se fosse um bácoro, e por aí adiante, uma espécie de estrela maior, presente em todos os momentos da vida pública nacional.
Até que um dia, ao chegar de manhã à taberna, deu com Ximenes morto. Aflito, chamou a Polícia, acordou todos os vizinhos, assarapantou transeuntes, pedindo ajuda para quem dela já não precisava. Aquele desfecho trágico poderia adivinhar o fim do seu emprego, onde comia de graça, bebia sem cerimónia, ganhava uns cobres e roubava mais algum quando o pobre galego se distraía com a caixa.
Carregaram-no para a morgue, que era a dois passos, e de lá veio a notícia que o enfarte o levara desta para melhor. Que a família reclamasse o corpo ou iria para a vala comum do Alto de São João.
Foi essa exigência da casa mortuária que fez de Tibornas empresário. Ninguém reclamou o corpo do infeliz taberneiro e o burlão sucedeu-lhe como varão por linha dinástica. Quando a Polícia de Investigação Criminal foi instalada no Torel, já fora esquecida a morte do pobre galego e a gerência do negócio ganhara novo proprietário por usucapião.
Ainda não eram nove horas. A uma das mesas, estavam sentados o Chefe Pereira dos Santos e o seu subordinado Simão Rosmaninho. Tomavam café e o jovem detetive, depois de olhar em volta para se assegurar de que não era escutado por mais ninguém, perguntou:
– Já viu os jornais de hoje? Parece que a PVDE prendeu todos os autores do atentado.
– Li, sim senhor. Fizeram um bom serviço.
– Acredita no que está a dizer, Chefe? – Perguntou Simão, desconfiado.
– Há algum motivo para não acreditar?
– Não bate a bota com a perdigota.
– Isso quer dizer o quê?
Simão tornou a observar a taberna antes de continuar.
– Dizem que a bomba era de melanite. E não é. O Chefe pediu ao Arengas e ao Frederico que recolhessem indícios do local da explosão e o laboratório identificou resíduos de nitroglicerina.
– Dinamite. – Concluiu Pereira dos Santos.
– A melanite é muito utilizada pelos soviéticos, mas não tem relevo em Portugal. Dá jeito para associar a explosão ao Partido Comunista.
– Qual é a ligação do grupo do Alto do Pina aos comunistas?
– A PVDE diz que é um tipo chamado José Horta. Um pedreiro de vinte e quatro anos. Acredita que é um jovem operário que faz a ligação ao Komintern e arranja dinheiro para preparar o golpe? Além de que não param de fazer prisões. Está em curso uma operação de grande escala para dizimar o pouco que resta do Partido Comunista. Dirigentes do Comité Local e Regional de Lisboa estão a ser presos.
– Como é que soube isso? – Perguntou o Chefe, desconfiado.
– A notícia veio nos jornais da tarde de ontem.
– Não li. Estive na Boa Hora, num julgamento.
– Pior, chefe.
– Pior, o quê?
– O Partido Comunista repudia o ataque e declara que é através da revolução que será destruída a Ditadura e não com bombas.
– Tem fontes entre os comunistas?
Simão esboçou um sorriso.
– Não conheço nenhum. Mas encontrei isto no elétrico quando vinha para aqui.
Da algibeira retirou, dobrado, o jornal Avante. Pereira dos Santos, ao ver o periódico, criticou-o.
– Esconda isso rapidamente. Quer que sejamos denunciados por estarmos a ler jornais proibidos?
– Desculpe, guardei-o para si.
– Leio quando chegarmos à Brigada. Eu pago-lhe o café e vamos embora daqui. – Rematou o Chefe, procurando moedas na algibeira do casaco.
– Mas não acha estranho? – Insistiu Simão.
– Meu caro, se a polícia política diz que o explosivo é melanite, não existe nenhum laboratório no mundo que os convença de que é dinamite.
– Mas a ciência...
– Não seja ingénuo. Qual ciência, qual carapuça! Não há ciência que resista às verdades da PVDE.
– Mas a verdade material... – Insistiu o jovem.
Pereira dos Santos deixou cair algumas moedas sobre a mesa e foi com um sorriso paternal que declarou:
– O senhor é ainda muito novo, mas existem princípios que tem de aprender muito depressa. A verdade mora na António Maria Cardoso. Não é Deus quem produz a Verdade absoluta. É preparada e cozinhada na PVDE e, depois, entregue a Deus. Nunca se esqueça deste ensinamento. Não vem na Bíblia, mas é de aprendizagem obrigatória. Vamos? – Voltando-se para Tibornas gritou: – O dinheiro ficou em cima da mesa.
E saíram os dois.
* * *
Albertina não controlava os espasmos. Gritava! Gritos roucos de prazer, que apoquentavam Arengas.
– Controla-te, minha querida. Estamos numa pensão e pode ouvir-se noutros quartos.
– Não quero saber. Dá-me. Dá-me! – Suplicava, enlouquecida.
Embrulhados na posse, não ouviam a cama que gania, o soalho de madeira que chiava, o candeeiro que estremecia, misturando-se roncos, gemidos e gritos num vendaval de paixão.
– É agora. Não pares. Não pares!
O estrépito dos orgasmos chegou até à rua, provocando o riso velhaco de dois homens que passavam por debaixo da janela e a indignação da velha que morava em frente, que se persignou, elevando os olhos ao céu a pedir perdão por ter escutado tamanho pecado, e fechou a porta com estrondo.
Desnudada, arfando da refrega, Albertina virou-se na cama e gemeu:
– Estou rota. Tu dás cabo de mim.
Arengas, que procurava recuperar o fôlego, acariciou-lhe a coxa nua, enquanto acendia um cigarro.
– Tu é que dás cabo de mim. Não sinto as pernas.
– Nem eu! – Retorquiu ela, rosto enterrado na almofada.
Tudo começou com uma aventura disparatada. Na festa de casamento da filha do Chefe Baltar, estava toda a direção da PVDE. Até Agostinho Lourenço aceitara assistir à cerimónia na igreja, embora não estivesse presente no enorme salão onde se desenrolava a boda, ao som de uma orquestra que saltitava por valsas, boleros, subia ao paroxismo do charlestone e à alegria do cancã, para regressar às melodias de Ravel e de Gershwin até ao Lig-Lig-Lé cantado por Castro Barbosa.
Arengas fora convidado pelo noivo e nessa noite partilhava o mesmo espaço com a ínclita geração que impusera a polícia política como o instrumento mais poderoso do Estado Novo.
Reparou no corpo deslumbrante e no olhar lânguido de uma mulher que aparentava ser esposa de um dos finórios, agrupados em volta da mesma mesa. Comentou com o seu colega Frederico, também convidado para o casamento:
– Aquela mulher é linda!
– Eu acho-a feia. – Retorquiu o amigo com uma gargalhada.
– Feia? Estás maluco ou és ceguinho? – Protestou Arengas.
– Companheiro, aquela beldade é casada com o tipo empertigado, com o cabelo besuntado de brilhantina, com ar importante, que está a seu lado. É um dos diretores da polícia política e é coronel. Portanto, meu caro, olhar para ela é quase crime. Imaginar que lhe tocas, repara, só de imaginar é crime. Se lhe tocas, nem que seja por acaso, acabas acusado de ser comunista e passas o resto dos teus dias no forte de Angra do Heroísmo, ou és desterrado para Timor. Portanto, não é linda. É um camafeu, um besouro, feia todos os dias.
– É lindíssima! – Respondeu o outro, maravilhado, sem ouvir o que Frederico lhe dizia.
– Segue o meu conselho. Não brinques com o fogo.
Hesitava entre a sensatez do amigo e o impulso que o desejo o fazia experimentar, quando o olhar de ambos se cruzou. Nem Greta Garbo tinha tal brilho nos olhos e a cabeça de Arengas entrou em desvario. Sorriu-lhe, provocante, erguendo em saudação o copo que segurava nas mãos. Sentiu um baque ao ver que ela retribuía, satisfeita por se sentir observada.
O jogo repetiu-se várias vezes durante a hora seguinte, e na confusão da boda alegre e estouvada, entre valsas e charlestones, ninguém reparou no estranho bailado entre Arengas e Albertina. O marido continuava emproado e hirto, acrescentando, a espaços, cigarros à boquilha com ornamentos de ouro que empunhava com elegância, sem trocar palavra com ninguém. Alguns oficiais dançavam com os seus pares e Albertina, acomodada ao lado do marido, limitava-se a apreciar a alegria dos outros e, cada vez com maior frequência, virava-se para ele e sorria com rubor crescente.
Arengas, imóvel, tornara-se numa serpente a hipnotizar a sua presa. Por fim, a lucidez foi-se embora. Fez-lhe um sinal para que ela saísse. Albertina baixou a cabeça, perturbada. Era visível o nervosismo quando abriu a carteira, como se procurasse qualquer coisa, e as mãos tremelicavam. Para o conquistador o jogo era simples. Ou ela cedia e aconteceria algo de inesperado, ou então era ele quem sairia do casamento, desistindo da azáfama, para ir terminar a noite na casa de passe da Aurora, puta afamada do Bairro Alto.
De súbito, ela olhou-o de soslaio, levantou-se e dirigiu-se à casa de banho. O coração de Arengas acelerou e saltou em surdina, e ele avançou pelo outro lado do salão, encaminhando-se para o mesmo destino.
Albertina estremeceu quando sentiu o corpo do homem a roçar no quadril e a mão, discretamente, a tocar na dela.
– Olá! – Sussurrou o jovem detetive com um sorriso doce e ela deixou que as mãos se apertassem uma na outra.
Rodou o corpo num discreto movimento de vigilância e empurrou-a suavemente para a primeira casa de banho. Voltou a olhar em volta e alegrou-se. Os convivas estavam inebriados com um cancã. Rapidamente a seguiu, fechando a porta na tranca.
Abraçou-a com sofreguidão e a mulher tremeu nos seus braços até que os lábios de ambos se encontraram num beijo turbulento.
A esposa do coronel ainda murmurou uma resistência.
– Meu Deus! Isto é uma loucura.
Respondeu-lhe com um beijo voraz, língua abraçada à língua dela, derrotando as últimas reservas de Albertina. Com suave firmeza acariciou-lhe o peito, enquanto aumentava o fragor dos beijos, e a outra mão desceu pelo vestido, viajou sobre o cinto de ligas até encontrar a pele aveludada das pernas, subindo devagar até ao sexo. Albertina resfolegava, mordendo o prazer nos lábios. Virou-a enquanto lhe baixava as cuecas, dobrando-lhe o corpo. Albertina agarrou-se ao lavatório. Quando Arengas a penetrou, engoliu um grito, depois outro, e mais outro, como se um cavalo selvagem tivesse surgido dentro de si em galope infernal. Depois, uma explosão de foguete de lágrimas iluminou-lhe os sentidos e parecia que o lavatório, a que se agarrava, tremia com ela, as paredes estremeciam e rebentavam faíscas por todo o seu corpo. O coração, louco de prazer, queria saltar-lhe do peito para correr para a dança frenética diante da banda do casamento.
Arengas afagou-lhe os cabelos e beijou-a na nuca, enquanto apertava as calças.
– Quanto te vejo outra vez? – Perguntou, baixinho.
– Nunca mais. Isto foi um disparate. – Respondeu enquanto procurava recompor-se da trovoada que se dera dentro de si.
– Preciso de te ver fora desta confusão, sem tanta gente à nossa volta.
– Não sei. Preciso de acalmar. Nunca traí o meu marido.
– Quando? – Insistiu ele, beijando-lhe o pescoço.
Empurrou-o.
– Desta maneira, não quero.
– Seja como entenderes. Quando?
Olhou-o por instantes e suspirou.
– Vou todos os dias, por volta das seis, à Igreja de São Roque.
Subitamente ficou aflita e perguntou, medrosa:
– Como saímos daqui?
– Vou primeiro. Esperas um minuto e sais. Encontramo-nos em São Roque. Talvez me ensines a rezar.
Beijou-a na testa e desapareceu.
Frederico já o procurava.
– Onde é que te meteste? – Perguntou, desconfiado.
– Fui até à rua apanhar um pouco de ar. Aqui está um calor danado. Queres beber uma cerveja?
– Mas não te foste refrescar?
– Por fora. Agora preciso de refrescar por dentro.
Olhou de soslaio a mesa para onde Albertina já voltara. Ninguém dera por nada. O marido continuava inalterado, solene, acendendo com elegância um novo cigarro na boquilha com enfeites de ouro.
Arengas não pregou olho nessa noite. Procurou afastá-la dos pensamentos, recordando outros casos fortuitos que vivera com muitas mulheres, todavia, Albertina regressava, atrevida, iluminada como um anjo que lhe invadia a alma. Sentia as mãos dela a abraçá-lo. O cheiro permanecia entranhado na pele, nas mãos, no corpo, imenso parasita que lhe tomava os sentidos, com sorriso tímido e boca esfomeada de beijos.
De manhã, quando saiu para o serviço, tomou a decisão de não a procurar. Chegara aos trinta e cinco anos namoriscando a eito, saltitando de cama em cama como pardal nos beirais dos telhados, não era agora que permitiria que uma mulher, ainda por cima casada com um homem importante do Regime, tomasse conta da sua liberdade de piratear corações pelos jardins e avenidas de Lisboa.
Passou o dia a convencer-se de que fora mais um dos seus engates. Um par de cornos na polícia política. Uma peça de caça original pendurada no seu cinturão de predador de alcovas. Um encontro fugaz. Apenas mais um orgasmo.
No entanto, quando o relógio da Brigada badalou as cinco horas, deu um salto na cadeira, avisando Frederico e Simão, que trabalhavam a seu lado:
– Vou sair mais cedo. Tenho coisas para fazer.
Saiu disparado do Torel, em correria de galgo para o elevador do Lavra. Foi gamo ao atravessar os Restauradores, um puma a subir a colina até São Pedro de Alcântara e, ainda faltavam um punhado de minutos para a hora prevista, pousava, com tremores de cotovia, no Largo da Trindade, junto às escadinhas do Duque.
Quando viu Albertina, girassol de pétalas brilhantes, a subir a rua, a emoção que se apoderou dele foi tão intensa que desprezou todos os convencimentos que impusera a si próprio. Tinha descoberto a mulher da sua vida.
* * *
Anoitecia. A vaga de calor não abrandava e os bandos de morcegos continuavam a estrangular Lisboa, caçando mosquitos, vindos dos lodaçais do Tejo, hipnotizados pelas luzes da iluminação pública. Nas ruas do Bairro Alto, homens escanzelados sentavam-se às portas de suas casas, sonhando com a fresca brisa que tardava. As tabernas continuavam atulhadas de gargantas sedentas e não havia vivalma que não clamasse por maior brandura do tempo. Esperava-se com ansiedade a segunda quinzena de agosto, diziam os mais velhos que nela chegariam as brisas vindas do alto mar, contudo, as horas dilatavam-se, preguiçosas, segurando a voracidade do tempo, cansadas pela brasa dos dias.
Com o casaco debaixo do braço, Almeida Júnior atravessou o Largo Luís de Camões, em direção à PVDE. Autêntica fábrica de laboração contínua, sucediam-se buscas, interrogatórios, espancamentos sem hora marcada, obrigando à rendição dos Agentes, dias e noites sem fim, à espera do momento em que os presos, exaustos de sono e dor, pronunciassem as palavras mágicas: «Eu confesso.»
Galgou as escadarias e dirigiu-se à sala onde estava José Horta, o principal suspeito do atentado contra o Presidente do Conselho. Haviam passado dois dias desde que se entregara e o interrogatório ainda não tinha chegado ao fim. O Agente não conseguiu esconder a estupefação quando viu o estado em que o suspeito se encontrava. Desfigurado pela ausência de sono, o rosto coberto de sangue coalhado, o corpo vegetal retorcido pelo cansaço.
Engoliu em seco e limitou-se a tocar no ombro de Gonçalves, que calmamente lia o jornal, dizendo-lhe:
– Vim render-te.
O colega levantou-se, espreguiçando-se generosamente.
– Ainda bem. Estou cheio de fome. – Apontando para o preso informou: – Este ordinário é para continuar nessa posição até decidir contar aquilo que sabe. Tem a mania que é rijo, mas vai quebrar.
– Há quanto tempo está sem dormir? – Quis saber Almeida Júnior.
– Vai para quarenta e duas horas. – E em jeito de aviso acrescentou: – Não te distraias que ele deita-se no chão para relaxar os joelhos.
Ocupou a mesma cadeira que o colega usava e pegou no mesmo jornal. Quando Gonçalves saiu, perguntou ao José Horta:
– Tens sede?
– Tenho vontade de morrer. – Balbuciou com dificuldade. A boca e o rosto estavam de tal modo inchados pela pancadaria que babava sangue.
– Diz a verdade e acaba este suplício. Não é bom para ninguém.
– Não sei que verdade querem que eu diga.
– Que comandaste o atentado contra o Doutor Salazar.
– Estou inocente. – Gemeu entre lágrimas.
Almeida Júnior ficou em silêncio. Desde que começara a saga contra o tão celebrado grupo do Alto do Pina que um misto de embaraço e dúvida se apossara do seu espírito. Por acaso, estava no gabinete do Capitão Catela quando trouxeram um informador que dizia ter notícias importantes sobre os terroristas que puseram a bomba no esgoto da Barbosa du Bocage.
Era o Leonel da Mouraria, conforme se apresentou, fardado de legionário, ar gingão e pose fadista.
À pergunta de Catela, respondeu:
– Sei quem eles são, Excelência. São todos do Alto do Pina e um deles até já morou na minha rua. O Alfredo Elói.
– É comunista?
– Odeiam Salazar, Excelência. Ele e o grupo que se junta na tasca do Toni, à entrada da Curraleira.
– Como é que tu sabes?
– Porque eles não escondem. Então o Pinhal, quando bebe uns copos, rasga os jornais que trazem a fotografia de Sua Excelência, Excelência.
– Rasga os jornais?
– É verdade, Excelência. No dia em que as notícias davam conta de que Sua Excelência se tinha salvado do atentado, não só rasgou o jornal como o espezinhou, dizendo que Sua Excelência tinha nascido com o cu virado para a Lua.
Catela estava entre interessado e confuso com a informação. Pôs as coisas a claro.
– Vamos lá ver se nos entendemos. Para já, acaba com essa coisa de me chamares Excelência, que me desorienta. E agora começa a contar a história do princípio. Conheces os cinco tipos que atentaram contra a vida do Doutor Salazar?
Repetiu a mesma versão, suposição vaga a que associava o ressabiamento de um grupo de homens contra o Estado Novo, mas sem outro vínculo com o crime que não fosse ter visto um deles rasgar e espezinhar um jornal.
No alvoroço de desorientação que minava a PVDE, mirrada de outras possíveis soluções, a conversa do legionário foi música celestial. Há quase duas semanas que não paravam em rusgas sucessivas, prendendo a eito, torturando sem piedade, espicaçando a rede de informadores, para que se abrisse a frincha que fizesse alguma luz sobre o caso. Era o prestígio da PVDE que estava em causa. Não se tratava de mais um atentado à bomba em que eram useiros e vezeiros anarquistas ressabiados, ou reviralhistas saudosos da defunta República. O Leonel da Mouraria surgia no meio desta aflição, qual profeta anunciando a chegada da esperança.
Nesse mesmo dia, prenderam quatro dos denunciados. Almeida Júnior viu-os chegar e assistiu a alguns interrogatórios. Empalideceu-lhe a alma. O Pinhal, ou Pinheiro, pois nunca se soube o seu nome com precisão, perdido de bêbado suplicava por vinho a cada pergunta e, conforme lhe faziam a vontade, respondia alegremente aos anseios do inquisidor. Outro, o Jacinto, ainda estrebuchou. À primeira saraivada de pauladas, dispôs-se a dizer tudo aquilo que o Chefe Baltar quisesse ouvir. E os quatro, sem uma vírgula que os diferenciasse, produziram a mesma confissão previamente delineada como a solução perfeita para o caso.
A carroça seguiu sempre à frente dos bois e Almeida Júnior duvidava dos efeitos de tamanha unanimidade. Terá sido um sentimento piedoso que o fez querer ajudar José Horta. Encheu um copo com água e estava disposto a deixá-lo descansar da posição de sofrimento em que se encontrava há tantas horas, quando pela sala irrompeu o Chefe Baltar acompanhado por Alfredo Elói.
– Esse merdas está armado em herói e trago-lhe aqui um dos seus comparsas para que meta juízo nessa cabeça dura.
Almeida Júnior estacou e o Chefe, voltando-se para o preso recém-chegado ordenou:
– Vais ficar aqui com o Horta e explicar-lhe que não vale a pena estar armado em besta. Eu saio com o senhor Agente e voltamos dentro de quinze minutos. Quero ouvir os dois tão certinhos como se pertencessem ao coro da igreja. Estamos entendidos?
Pegou no braço de Almeida e arrastou para fora da sala. Alfredo acorreu em auxílio de Horta, ajudando-o a sentar numa cadeira.
– O estado em que estás, Zé. Que desgraça a nossa. – Chorou Alfredo.
Bebeu sofregamente o copo de água e ganiu de dor quando quis esticar as pernas.
– Estão a querer matar-me, senhor Alfredo. Também lhe bateram muito? – Perguntou, enquanto procurava libertar-se das dores lancinantes que se soltavam dos joelhos.
– Chega um homem a esta idade para ser tratado como um cão.
– O que disse, senhor Alfredo? O que disseram os outros? Esta coisa parece saída do inferno. Querem à força acreditar que fizemos essa maldita bomba.
– Eu sei. Estou aqui há quatro dias sem que a minha gente saiba de mim.
Alfredo desatou a chorar. Pranto sem peias, procurando expulsar a humilhação.
– Também bateram nos outros? – Perguntou Horta.
– Uma vergonha, filho. Uma vergonha. – Soluçou o empreiteiro de aterros.
– Eu não sei nada.
– Eles acham que nós sabemos tudo.
José Horta procurou reagir ao desgosto.
– Não chore, senhor Alfredo. Não sinto as pernas, os joelhos são duas bolas e não posso confessar uma coisa que não fiz. Nem sei como levá-los acreditar que nós gostamos de jogar às cartas e não sabemos de política.
Esfregava os membros inferiores, tentando afastar as dores agudas que lhe subiam pelo corpo. Estava exausto por tão grande insónia, mas procurava resistir. A indignação redobra as forças de quem sofre. É o rastilho que faz explodir a revolta.
– Que conselho me dá, senhor Alfredo?
– Não queiras morrer tão novo, Zé. Eles matam-te. Assina o que eles quiserem. Estou vivo porque assinei. – Aconselhou, vencido.
– Assino o quê?
– O papel que eles escreveram e em que te dás como culpado.
– Eu não sou culpado dessa coisa da bomba! – Protestou.
– Não temos escolha. Percebi isso quando começaram a bater-me com um cinto. Pareciam doidos. Se não tenho assinado, estava morto. Assinámos todos.
– Mas estamos inocentes, senhor Alfredo!
– Eu sei. A verdade é que esta nossa desgraça não resulta de sermos culpados ou inocentes. Ou assinamos ou matam-nos. No dia em que fui preso, tinham morto um infeliz qualquer, nem sei o seu nome, porque não assinou. A pergunta que tens de fazer a ti próprio é: prefiro assinar e dar tempo para que esta confusão se esclareça ou prefiro morrer?
– Eu não posso morrer. A minha mãe precisa de mim.
Escondeu o rosto entre as mãos, chorando convulsivamente. Alfredo Elói tinha razão. Os seus verdugos não procuravam saber a verdade. Queriam confissões assinadas. O tempo que já demorava a tortura e a indiferença deles perante o sofrimento que causavam davam força ao conselho do seu parceiro de bisca de nove.
Nesse momento, entrou o Chefe Baltar. Vinha acompanhado de outro Agente mais velho, cruzou os braços e interpelou Horta:
– Então, vais falar ou não?
– Não tenho nada a dizer, mas assino o que vocês quiserem. – Admitiu, vencido.
– Ora, isso é de homenzinho.
Voltando-se para o acompanhante ordenou:
– Traz o auto de declarações para que o José Horta assine.
E o José Horta assinou.
Estava concluído o caso.
* * *
Na tasca do Tibornas, a discussão fervia. Arengas encontrava-se de tal modo exaltado que ainda não trincara a sandes de torresmos, nem bebericara do copo de tinto que o taberneiro serviu com aviso solene:
– Provem este. Chegou hoje e sabe a mel. Não há pinga igual em Lisboa. É do cacete!
Fora lanchar, depois de sair do serviço, com os seus colegas de Brigada. Pelo caminho, Eurico e Frederico falavam de futebol, comentando a partida do dia anterior entre o Sporting e o Carcavelinhos.
De início, não se interessou pela conversa. Levava Albertina no pensamento e a memória do encontro breve, durante a hora de almoço, num quarto de uma pensão no Intendente. Pela primeira vez, enlaçado na nudez dela, beijando-lhe os lábios, declarou:
– Amo-te!
A mulher redobrara o abraço, comovida com a espontaneidade da proclamação, e Arengas passou o resto da tarde a matutar nas palavras que não se pensam, que chegam diretamente do coração e brotam dos lábios como se pertencessem à fisiologia natural do corpo. Na verdade, conforme os dias escorriam e os encontros fortuitos passaram a ser uma regularidade aumentava o fascínio e a fome da sua presença. Maré sempre a encher que o afastava dos caminhos antigos que trilhara à procura de aventuras e diversão avulso. Albertina morava, agora, dentro de si. De dia e de noite. Na ausência e na presença. Longe ou abraçados. Ela tornara-se a melhor parte da sua própria vida.
Pediram copos de três e sandes de torresmos e foram as palavras do taberneiro que, subitamente, o fizeram despertar para o mundo que estava a seu lado.
– Provem este. Chegou hoje e sabe a mel. Não há pinga igual em Lisboa. É do cacete!
Arengas olhou, indignado, para Frederico e perguntou com desprezo:
– Tu queres comparar a equipa do Sporting com a do Benfica? Tu tens lá algum tipo com os pés do Espírito Santo ou do Rogério? Vá, diz-me lá!
– O Pedro Pireza é o maior.
A exaltação subiu de tom.
– O Pedro Pireza?! Este gajo vem falar-me do Pedro Pireza. Ainda se fosse o Mourão ou o Soeiro. Mas mesmo assim. Nenhum deles chega aos calcanhares daqueles que já disse. Nem do Valadas, nem do Alcobia. O Pedro Pireza!? Ele há com cada um.
Frederico adorava provocar o amigo, militante maior do Benfica, e piscando o olho a Eurico, com um sorriso velhaco, atirou mais uma acha para a fogueira.
– O miúdo que agora entrou vai partir-vos todo. Vais ver!
Esbugalhou os olhos de espanto.
– Qual? O Peyroteo? Vai aprender futebol e depois falas comigo. É um miúdo, pá! Ainda precisa da mãe para lhe dar de comer. Um puto, pá!
Nesse momento, surgiu Simão. Dirigiu-se ao grupo.
– O Chefe não veio convosco?
Arengas estava demasiado irritado e foi áspero:
– Qual Chefe? Estamos aqui numa discussão séria e tu queres saber do Chefe?
O recém-chegado olhou-os, surpreendido.
– Discussão séria? Aconteceu alguma coisa que...
Eurico interrompeu-o.
– O Arengas está a fazer a demonstração matemática de que o Benfica está cheio de ases.
O benfiquista atacou o recém-chegado:
– Simão, diz-me tu, que, apesar de seres um ignorante em futebol, estás sempre a ler jornais: Qual é o nome do avançado mais afamado que todas semanas lês nas notícias?
– O Pinga, do Futebol Clube do Porto.
– O Pinga? – Reagiu, indignado, e continuou a arengar: – Mas quem é o Pinga? Afinal, estou a discutir com pessoas ou com atrasados mentais?
Frederico reforçou a opinião de Simão:
– O Pinga é um jogador de excelência.
Ao que Arengas respondeu com desprezo:
– Do tamanho do teu Pedro Pireza e do teu Peyroteo. Mas quem é que me manda discutir com ignorantes? – Rematou enquanto atacava a sandes de torresmos.
– É do cacete! – Interveio Tibornas, abrindo espaço para dar o seu contributo para tão intensa discussão.
– Eu tenho uma teoria. Ora vamos lá ver – Começou a preambular. Arengas não o deixou continuar:
– Não há uma única conversa nesta espelunca onde não tenhas de meter o bedelho e vens sempre com a história de que tens uma teoria. Nem sabes o que é uma teoria, Tibornas. Cala-te, bem caladinho, que os sportinguistas já são de mais e os burlões também. Não me faças falar.
– Tu és do cacete! – Exclamou o taberneiro, desanimado com o rumo da conversa, afastando-se do grupo de polícias.
– Estás sempre a dar no toutiço do homem. É um pobre diabo – Criticou Eurico.
– Conheço-o há muito tempo. O Tibornas, se o deixares desenvolver uma das suas teorias, saca-te a carteira em três tempos. Conheço a peça.
Eurico e Frederico levantaram-se, bem-dispostos.
– Já sentia saudades deste Arengas. Nos últimos tempos tem andado muito sisudo.
Saíram e Simão ficou a observá-lo.
– O que é que queres? Eu não sei onde está o Chefe.
– Foi um pretexto para entrar na conversa. Não é com ele que preciso de falar. É contigo.
– Comigo? O que foi?
Olhando para Tibornas, Simão respondeu:
– Aqui as paredes têm ouvidos. Acaba de comer e saímos.
Intrigado com os modos do colega, Arengas deu uma última dentada, pagou e, já na rua, questionou o outro:
– Afinal qual é o segredo que precisas de partilhar comigo?
– Não sou eu quem tem segredos. És tu. Bem grande e bem grave.
– Que conversa é essa, Simão?
– Mudaste de comportamento e desconfiei de que havia nova donzela na costa. Não disse nada porque trocas de amada como eu de peúgas. Hoje, fui almoçar ao Intendente com o Doutor Asdrúbal d’Aguiar e percebi a tua mudança de atitude.
– Percebeste como? – Perguntou, embaraçado.
– Porque te vi sair da pensão, que fica à entrada do Benformoso, com a mulher do coronel Carolino, da polícia política. Que cabeça é a tua, Arengas? Não percebes que estás a correr grave risco e que pões a senhora em perigo? Se o coronel descobre o que andas a fazer, põe os cães dele atrás de ti e desfaz-te com um estalar de dedos.
Deixou-se cair num banco junto à estátua de Sousa Martins. Não conseguia articular palavra para responder ao Simão, que voltou à carga.
– A senhora está em risco por causa da tua tontice. Com tanta mulher que anda por aí à mercê de abutres como tu, fizeste a investida que só um doido faria e engataste a esposa de um coronel da PVDE. Se ela soubesse o teu passado de mulherengo, nem tinha olhado para a tua cara. Pára com isto, Arengas. Pára antes que seja tarde.
– O Doutor Asdrúbal d’Aguiar viu? – Perguntou, a medo.
– Claro que viu. Até foi ele quem me chamou a atenção. Reconheceu-te!
Acendeu nervosamente um cigarro.
– Se eu te disser que estou apaixonado por ela?
– Não sejas mentiroso.
– Juro. Não estou a mentir!
– Não gozes comigo, Arengas. Conheço a massa de que és feito. – Censurou com severidade.
– É difícil de acreditar, eu sei. O meu passado não abona nada para que julgues que falo a sério. É verdade, Simão. Quase tenho vergonha de admitir. Tudo começou no casamento do Eurico com a filha do Chefe de Brigada da polícia política. Olhei para ela e, confesso, o primeiro impulso foi provocá-la, fazer qualquer coisa maluca e esquecer. O marido é tão pedante que merecia a minha loucura. No dia seguinte, fui esperá-la junto à Igreja de São Roque e fiquei com a certeza de que seria a companheira que eu nunca tive. Deixei as noitadas. Acabaram-se os copos. Nem vou ver o Benfica. Espero o momento que ela me pode dispensar. Tornei-me num eremita aguardando a hora em que consigo vê-la, ouvi-la e tocar-lhe.
Simão soltou uma gargalhada.
– O maior putanheiro de Lisboa transformado em asceta. Arengas, estás a falar comigo e esse paleio cheira a conversa de burlão. Pareces o Tibornas!
Arengas apagou o cigarro com a ponta do pé. Esperou que passasse um casal de namorados que caminhava pelo jardim e desabafou:
– Julgas que gosto de me sentir assim, enclausurado, arredado do mundo, à espera, sempre à espera, de um sinal para que possa estar com ela? Que não mergulhei na maior das solidões nesta posição, sempre alerta? Deixei de combinar almoços. Abandonei as tardes de convívio com os meus amigos do Pátio do Tijolo, passo as noites a caminhar pela sua rua, esperançado que a janela se abra e a possa ver. Durmo com ela na cabeça, venho trabalhar com ela no coração e basta vê-la, olhá-la por uns segundos, para que uma alegria, que nunca tinha experimentado, me faça renascer. É isto a minha vida.
Simão sentou-se ao lado de Arengas. A mansidão amargurada das suas palavras era sincera e reviu-se nele. No tempo em que corria, alvoroçado, para os braços da sua Violeta, naquele amor tão breve, que a tuberculose ceifara.
– O que pensas fazer? – Perguntou.
Encolheu os ombros com tristeza.
– Nada. O que lhe posso oferecer? O marido ganha dez vezes mais do que eu. Vive numa casa confortável, tem rendimentos que o pai lhe deixou de herança, faz parte da alta sociedade e, para complicar as coisas, vai à igreja todos os dias. Que lhe pode propor um miserável como eu? Umas águas-furtadas, no Bairro Alto, que são cozinha e quarto ao mesmo tempo, um ordenado que mal dá para viver, uma certeza de pobreza absoluta? Até as flores que, por vezes, lhe ofereço, são roubadas do Jardim da Estrela. Sei que costuma passar férias na Figueira da Foz. Comigo, iria até ao miradouro de São Pedro de Alcântara, para ver o Castelo, e jogaria chinquilho. Só tenho dedicação, amor e sexo para lhe oferecer.
– E o marido?
– Está apaixonado por Salazar. Vive a glória do Estado Novo e Albertina é uma jarra de adorno. Juro-te, Simão! Nada disto é aventura.
Esticou as pernas e cruzou os braços sobre o peito. A noite caía depressa e o arvoredo do Campo dos Mártires da Pátria transformava-se em silhueta negra, ilha deserta e escura onde o sossego imperava.
– É uma impossibilidade. Nunca viverás esse teu amor. O divórcio é um interdito absoluto, o marido pode estar apaixonado por quem quiser, porque a ideia que nos comanda, é que ela lhe pertence. Pode ser um adorno, mas é sua propriedade. Objeto de que dispõe como entender. – Simão foi deliberadamente cruel.
– Não é justo. E se houver divórcio? A lei permite.
– Estás louco. A Igreja expulsa-a, a comunidade marginaliza-a, torna-se num dejeto humano. Olha o Camilo Castelo Branco e a Ana Plácido. Passaram pelas piores humilhações públicas, foram presos, escorraçados e não foi há tanto tempo quanto isso.
– Desde então, mudou o Regime. Veio a República, chegou a Ditadura, as pessoas são diferentes. – Insistiu Arengas.
Simão não conseguiu evitar um sorriso triste.
– As pessoas não mudaram assim tanto. As cabeças continuam a pensar como se os preconceitos antigos rejuvenescessem todos os dias. Olha a propaganda do Estado e o juízo religioso sobre as mulheres. A sua vocação é servirem os maridos, submeterem-se às suas ordens, educarem os filhos e não pensarem. Os maridos fazem-no por elas. Foi sempre assim. Mulher não passa de uma coisa com deveres.
– Tu não és assim. Quando viveste com a Violeta, que Deus tenha em descanso, percebi que era tua companheira.
– Que importa isso? Não sou nada. Apenas um solitário que amou e hoje vive com saudade desse tempo de infinita felicidade.
Arengas acendeu outro cigarro e ficou cabisbaixo. Pensativo. Por fim, perguntou:
– Achas que vai ser sempre assim?
– Com este Regime, e com as cabeças que comandam os nossos destinos, nunca será de outra maneira. – Respondeu, friamente.
– O que devo fazer, Santo Deus?
– Afasta-te dela.
– Eu amo-a, Simão.
– É um amor que vos vai trazer mágoa e sofrimento. Faz esse sacrifício final. Afasta-te.
– Não sou capaz. Ela é a minha vida, o meu anseio, o meu encontro com a paz e com a tempestade. A Albertina tornou-se numa omnipresença, no batimento do meu coração. Como posso viver sem aquele sorriso? Como?
Perguntou, angustiado, e Simão foi ainda mais rude:
– Prepara-te para o pior. O coronel vai dar cabo dela e de ti.
– Eu mato-o.
– Uma escolha acertada. – Ironizou Simão e beliscou-o: – Passas vinte anos na cadeia e depois és degredado para Angola. É este o futuro que queres oferecer à tua amada?
– Mato-me!
– Vai dar ao mesmo. Não viverás com ela. Morrerás por ela. Não tens jeito para Romeu.
Arengas acendeu novo cigarro, em desespero.
– O que hei de fazer, Santo Deus?
* * *
A miséria é o rastilho da revolta, uma acha de pinho que arde no coração, que incendeia os sentidos e produz raiva e anseios de vingança. Pode encaminhar as vítimas para a condição de revolucionários, crentes num sonho de justiça.
Porém, nem todas as paixões se convertem em amor perene, nem as multidões de revoltados se transformam em militantes da revolução. O desejo de matar a fome fervilha como uma rebelião transtornada, até explodir, em palavras ou atos, contra os carrascos que provocam tanto sofrimento.
Foram dois revoltados que desceram ao coletor de esgotos da Avenida Barbosa du Bocage, carregando a bomba que haveria de matar Salazar. Culpavam-no pela desgraça das suas vidas, pelo tormento da fome, pela ausência de esperança, pela secura dos sonhos. Quando aqui se chega, a lucidez política não medra. Matá-lo representava o fim de todos os martírios.
Arrastaram a garrafa de gás industrial, atulhada de dinamite, pela escuridão do vazadouro, até ao local onde calcularam que iria parar o Buick que, no dia seguinte, por volta das onze horas, levaria o Presidente do Conselho à missa dominical, na capela da casa do seu amigo Josué Torquato.
Raul Pimenta, serralheiro quando encontrava trabalho e obreiro do engenho, tentou empiná-la contra a parede, de tal forma que, ao explodir, furasse o chão e levasse Salazar, escarranchado num foguete, pelos céus, até chegar ao quinto dos infernos.
Em vão!
Transpirado e ofegante do esforço, segredou a Granja:
– Não cabe. É alta de mais.
– Deixa-a deitada. – Respondeu o amigo que, de candeia na mão, iluminava a operação.
– Raul, são dez quilos de dinamite. Quando estoirar, vai o Salazar, vai o automóvel, vai a rua, vai tudo para o Diabo que os carregue.
Tentou novamente pô-la de pé. Era impossível. O diâmetro do coletor era menor do que a altura da garrafa.
– Não dá mesmo. Merda para isto. – Declarou, irritado.
– Deixa-a deitada. – Repetiu Granja e não evitou uma risada bem-disposta quando brincou: – Se não o matar, pelo menos faz barulho.
Raul Pimenta não achou graça.
– Metemos neste buraco a maior bomba que a cidade já viu só para fazer barulho?
– Não te zangues. Mesmo que corra pelo esgoto, a explosão será tão grande que irá tudo pelos ares, esteja em pé ou deitada. Liga o material e vamos embora daqui.
Cautelosamente desenrolaram os fios elétricos até à saída do coletor. Com a tampa entalaram as duas extremidades e Raul calculou a distância e concluiu, satisfeito:
– Daqui é seguro rebentar aquela marmelada.
– Tens a certeza? – Perguntou Granja, inseguro.
A noite, sem luar, acrescentara breu à escuridão, impedindo-o de imaginar a distância entre o detonador e a dinamite.
– Deixa por minha conta. Amanhã rebentamos com o canalha.
Afastaram-se os dois em direção ao carro de praça do Granja. Tinha sido grande o caminho para chegar àquele momento. Não era o percalço com o tamanho da garrafa que poderia destroçar os esforços de vários meses de conspiração.
No dia seguinte, por volta das dez, estava montado o arraial conforme o estabelecido.
Vaz Rodrigues, na esquina da João Crisóstomo, coração aos pulos, fazia de conta que lia o jornal. Um pouco mais acima, Chico Saloio esperava, no seu carro de praça. Rezava uma ímpia oração para que tudo corresse bem. Raul cirandava, boina carregada sobre os olhos, entre a Avenida 5 de Outubro e a da República. Matava o tempo antes de matar Salazar.
Um pouco afastado, no Campo Pequeno, encostado ao táxi, Granja tagarelava com Fernando do Talho.
– A coisa vai correr como esperamos. Anda pouca gente na rua. – Comentou o cortador de carne.
– Agora já não há volta a dar. O porco morrerá e amanhã vai estar um dia mais asseado. – Reagiu Granja, com convicção.
– O Vaz Rodrigues sabe onde estamos? – Era a segunda vez que a ansiedade o obrigava à mesma pergunta.
– Toda a gente sabe tudo. Ele vem até aqui e o Chico Saloio recolhe o Raul. O Arrinca está de alerta, caso haja alguma falha. – Retorquiu, enquanto retirava o resto de um cigarro que guardara sobre a orelha.
– Olha o Buick! – Murmurou, nervoso.
– É agora. Entra no carro. – Ordenou o Granja.
Vaz Rodrigues fisgou Salazar de relance quando o automóvel passou perto de si. Fez o sinal combinado, dobrando o jornal e metendo-o debaixo do braço. Chico Saloio viu-o dirigir-se avenida abaixo, sacudiu a preguiça com um bocejo, esqueceu a oração e pôs o motor a trabalhar. Raul compreendeu que chegara o grande momento. Aproximou-se da tampa do esgoto. Simulou que estava a apertar os atacadores das botas, dobrando-se para armar o detonador. Nem percebeu quem chegava na viatura. Por força que o ditador estava lá dentro. O Buick entrou na Barbosa du Bocage, abrandando a marcha até que parou.
Raul disparou o gatilho do percutor. Ouviu um estalido seco sem qualquer outro efeito. Apressadamente verificou os fios e descobriu que um deles estava solto. Atarraxou-o rapidamente e tornou a picar o detonador.
E o Inferno desceu sobre Lisboa!
A terra tremeu de espanto. Os prédios abanaram com roncos surdos. Os vidros das janelas voaram. As telhas chegaram das alturas, estilhaçando-se contra o chão. A tampa do esgoto aterrou cem metros para lá da avenida. A boina do Raul tornou-se andorinha volteando pelos ares. O estrondo da explosão ribombou até ao Saldanha, os pardais que debicavam no arvoredo do Campo Pequeno voaram como balas para os lados do Areeiro e, junto ao Palácio Galveias, uma mãe abraçou dois filhinhos que choravam de pavor.
A seguir, chegou um silêncio sepulcral. Nem as folhas das árvores mexiam. O trânsito parou, espantado. Do silêncio brotou uma gigantesca onda de poeira que escondeu a tragédia.
De súbito, um grito rasgou o ar. Depois, outro. Depois, muitos outros. Sem rostos, mais parecendo uivos que habitavam a enorme onda de pó que apagara a Barbosa du Bocage.
Foi então que se deu o milagre.
De início, era um vulto disforme, uma silhueta translúcida que cambaleava, tateando, no interior do temporal, protegendo-se da chuva de estilhaços de vidrinhos, de frangalhos de cimento. Deu alguns passos e transfigurou-se em pessoa, agora com passo mais seguro.
D. Sebastião descobria-se no nevoeiro. Mais de três séculos depois, o Encoberto regressava de Alcácer Quibir, cumprindo profecias e augúrios que, desde o fundo dos tempos, reclamavam a sua presença para reerguer Portugal. Vinha acompanhado de um escudeiro. Para os crentes, foi Natal em Lisboa, naquele julho de 1937.
Salazar puxou de um lenço e limpou as botas. Sacudiu os restos de nevoeiro que restavam sobre o casaco e disse ao chefe de gabinete:
– Vamos para a missa.
* * *
Lisboa recompunha-se do susto, com o credo na boca, clamando por novidades.
«O que foi isto? O que aconteceu?» As vizinhas espreitaram nas janelas, perguntando umas às outras, os taberneiros assomaram às portas, perscrutando o movimento, os ardinas calaram-se e até os sinos dos campanários suspenderam o tão-badalão.
«O que foi isto? O que aconteceu?»
Não tinham decorrido cinco minutos sobre a explosão, e descendo a Estefânia, no carro de praça de Granja, Vaz Rodrigues e Fernando festejavam o fim da Ditadura com generosas gargalhadas. No táxi de Chico Saloio, não havia festim. Raul sangrava de uma perna e gania com dores. A tampa do esgoto saltara com tamanha violência que quase lhe arrancara o joelho e o sangue escorria a jorros.
– Estás a esvair-te em sangue. Vou levar-te a São José. – Gritou o Saloio, assustado. O outro reagiu, firme.
– Nem penses. Era logo preso.
– É uma ferida grande. Tens de ser tratado.
– Leva-me ao posto de Alcântara. Está lá uma enfermeira que já cuidou de mim por causa de outro acidente e é minha amiga. – Gemeu Raul.
Chico Saloio mudou bruscamente de direção, apontando ao Largo do Rato. Dali até Alcântara era um passo.
Nesse preciso momento, trinavam telefones em todos os comandos militares e em todas as polícias, um alerta geral que, também, anunciava a boa nova. Sua Excelência estava a salvo, mas os terroristas andavam a monte.
Não demorou o tempo de um espirro para que todos os estados-maiores, reluzentes de galões e medalhas, se reunissem na sala de espera de Josué Torquato. Também acorreu a Polícia de Investigação Criminal e os bombeiros chegaram no mesmo instante.
Salazar dera instruções para que ninguém o incomodasse antes de receber a bênção que o padre Abel Varzim distribuiria no final da missa, e a legião de comandantes, ansiosa, aguardava pela ordem para avançar para a guerra.
Foi então que, entre a multidão de fardas e fatos domingueiros, se ergueu a voz de Agostinho Lourenço. Todos sabiam que era o Santo Anjo do Presidente do Conselho. Os murmúrios secaram e os generais e almirantes, juízes e inspetores voltaram-se, reverentes, para o Capitão.
– Compreendo que queiram cumprimentar Sua Excelência, o Senhor Presidente do Conselho. Mas fica por aqui a vossa visita. A Polícia de Vigilância e Defesa do Estado assume a investigação a este hediondo ato terrorista. Regressem aos vossos postos de comando e, desde já vos digo, que não quero ações desgarradas. Aguardem pelas minhas ordens. Com a vossa licença.
Pegou no chapéu, acenou com a cabeça num fleumático cumprimento e saiu. Mal entrou na António Maria Cardoso, chamou os seus diretores, começando pelo Capitão Amorim.
– Vais falar imediatamente com a Censura e fazes um comunicado que deve ser publicado em todos os jornais e lido em todas as rádios.
– O que foi? O que aconteceu? – Perguntou, perante a visível irritação do Diretor-Geral.
– Há pouco mais de uma hora, um grupo terrorista atentou à bomba contra o Presidente do Conselho.
– A sério? – Reagiu, incrédulo.
– A sério. Não vos chamava a um domingo se não fosse um caso muito grave. Foi um milagre. Não existe outra explicação. A explosão foi tão violenta que só o amparo de Deus o salvou. E nós não estávamos lá para o proteger. – Rematou, furioso.
– Santo Deus! – Exclamou, horrorizado, o responsável pela comunicação da polícia política.
– Escuta-me com atenção. A notícia deve sugerir duas coisas. Que nós estamos em cima da célula terrorista autora do ataque, e que aconteceu qualquer coisa de divino a Sua Excelência para ficar incólume. É fundamental dar um toque místico à coisa. E não é mentira nenhuma. Salazar está mais perto do divino do que outra criatura qualquer. Ah, avisa o coronel da Censura. Qualquer notícia, reportagem, seja aquilo que for, que escreverem sobre o caso, eu quero ver pessoalmente. É tudo. Podes ir e deixa que os outros entrem.
Catela, Carolino, Maia Mendes, entraram visivelmente angustiados. Os rumores já circulavam pela cidade.
O coronel, com a voz a tremer, não se conteve:
– Salvou-se?
– Salvou.
– Graças a Deus! – Carolino meteu a mão no bolso, dedilhando o seu terço de estimação.
Agostinho Lourenço procurou ser conciso.
– Estive no local do crime. Sua Excelência não sofreu um arranhão. Contudo, os estragos, que estão à vista, são prova de que se tratou de um engenho explosivo muito potente. Só existe uma organização terrorista capaz de preparar e financiar uma ação de tamanha envergadura.
– O Partido Comunista. – Avançou Maia Mendes.
– Nem mais. – Respondeu o chefe máximo da PVDE e começou a dar ordens: – Eu próprio vou dirigir esta investigação. Chamem os vossos homens. Quero-os todos na rua a sacudir os comunistas que restam. O princípio é geral: todos os suspeitos são vermelhos até prova em contrário. Carolino, ligue para os postos de fronteira. Os nossos Agentes que avisem a Guarda Fiscal. Não sai ninguém do País sem a minha autorização. Ninguém descansa. Ponham em alerta todos os informadores, dos mais diligentes aos mais descuidados, para que os ouvidos fiquem ainda mais à escuta. Temos de apanhar estes bandidos. Vivos ou mortos!
* * *
A matilha de mastins saltou para as ruas da cidade à caça das presas que lhe aliviasse a sede de sangue. Vasculhou ruas inteiras, vielas escusas, vilas operárias e ilhas, aqueceu o pelo aos informadores esquivos, invadiu bordéis e tabernas, explorou barracas e quintas, nem os cafés dos ricos escaparam às rusgas.
Entrou nas fábricas com o propósito de cheirar os operários insurretos, nos barcos que viajavam pelo Tejo, nos quartéis e arsenais, ninhos tradicionais de conspiração, e interrogou ardinas e aguadeiros, estivadores e carroceiros, motoristas de táxi e guarda-freios dos elétricos.
Sempre as mesmas perguntas, quase sempre as mesmas estaladas, como se uma ferocidade animalesca tivesse invadido Lisboa.
– Não ouviste falar de quem fez o atentado?
– Toda a gente fala por aí.
– Não te armes em parvo.
– É verdade. As conversas giram à volta do assunto.
– De quem se fala?
– Isso ninguém sabe.
– Quem são os teus amigos comunistas?
– Não tenho. Pelo menos que eu saiba.
– Queres que eu te vá às trombas? Quem são os teus amigos comunistas? Não pergunto outra vez.
– Juro que não sei. Há um tipo que trabalha na secção de peças que lê o jornal dos comunistas às escondidas. É o único que conheço.
– O Avante?
– Acho que é esse o nome, mas não sei ao certo.
Os informadores mais dedicados alimentavam as hienas.
– Tenho um primo que trabalha com um tal Hernâni que, de certeza, é do reviralho. Segundo diz o meu primo, é homem para estar metido na coisa.
– Senhor Agente, não tenho dúvidas, o meu Chefe de Repartição está feito com os anarquistas. Lê o jornal desses bandidos que iam destruindo a Marinha Grande. Isto só pode ser obra deles. Nem os comunistas são tão ruins.
– Qual é o jornal?
– A Batalha.
Noutros casos eram detidos suspeitos para resolver disputas pessoais.
– Prenda aqueles dois que lhe disse. Chamaram-me de tudo no café porque eu apoio a União Nacional. Até me bateram.
– O casal de professores que vive no meu prédio é comunista, de certeza. Não falam com ninguém e não vão à missa.
As viaturas despejavam magotes de suspeitos na António Maria Cardoso. Repenicavam os telefones da sede da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Das esquadras da Polícia que controlavam os bairros, de legionários solícitos, de funcionários públicos servis, de dedicados militantes da União Nacional, de regedores e alcoviteiros. O povo indignado dedicou-se à adivinhação. Cada mexerico, cada boato, era prova que rapidamente se transfigurava em séria possibilidade de esconder um dos vis terroristas que atentara contra Sua Excelência.
Agostinho Lourenço havia definido um objetivo. O atentado só podia ser obra do Partido Comunista e, portanto, os comunistas e seus simpatizantes eram os alvos mais apetitosos. No entanto, insistia que a rede de pesca teria de ser mais larga, vasculhando residências de anarco-sindicalistas, cheirando os entusiasmos de saudosistas de Afonso Costa. Não podia ignorar que o mais célebre político da República Velha morrera em Paris há bem pouco tempo. Não era de descartar a possibilidade de ser um grupo dos seus adeptos mais ressabiados.
Isto mesmo acabara de explicar ao ministro do Interior, depois da manifestação de apoio, promovida pelos comandantes supremos das forças militares de terra e mar, que se desenrolara nos Passos Perdidos da Assembleia Nacional e onde o Presidente do Conselho, em gesto de agradecimento, produziu um discurso brilhante. O ministro concordou incondicionalmente com o Chefe da polícia política.
– Não pode haver tréguas, Senhor Capitão. Não pode haver tolerância para terroristas que vendem a Pátria por um prato de lentilhas. Que procuram destruir a gigantesca obra realizada pelo Estado Novo. Cada patriota em sua trincheira, todos por Portugal, havemos de resistir e vencer. Sem piedade para com os traidores!
Foi, assim, que os predadores chegaram a Noémia e a um tal José Lopes. Ela foi chibada por um camarada de Partido que não aguentou a tortura. Ele já era alvo referenciado pela PVDE há algum tempo. O interrogatório de ambos levou dias, em salas diferentes, onde nunca entrou o sono e abundou o espancamento.
Mateus Júnior e Gonçalves interrogavam a mulher. Desfigurada, roupa desalinhada, cabelo desgrenhado dos puxões que, por vezes, lhe arrancavam pequenos tufos, ainda resistia ao enxovalho. Quando a humilhação vai para além de todos os limites, é o impulso para a sobrevivência que resiste à morte. As vozes dos polícias eram um eco que se replicava no poço da insónia, um murmúrio nauseabundo que doía nos ouvidos.
O interrogatório não parava. Mateus Júnior repetiu a ladainha:
– Não entendo. Como é que uma jovem, e até doutora, com um belo futuro à sua frente, cai na aventura comunista? Quantos anos tens?
– Vinte e oito.
Gonçalves adiantou com desprezo:
– E é divorciada. Uma doutora cabra.
Noémia ainda arranjou forças para reagir ao insulto.
– Não consegue falar comigo sem me faltar ao respeito?
O Agente explodiu de cólera e assestou-lhe dois murros.
– Bico calado, cabra de merda. Não és um ser humano, não és nada. Comunista e divorciada, não passas de um pedaço de lixo.
O Chefe contemporizou com um sinal para que Gonçalves parasse a sevícia.
– A doutora já devia ter percebido que o respeitinho é a regra desta casa. Aqui cultivam-se os valores cristãos que são fundamento da doutrina do Senhor Presidente do Conselho. Não existem reis, se não houver carrascos. É da História. Vamos lá ao que interessa.
Abriu um dossiê que tinha à sua frente e declarou:
– És a responsável pelo Comité Local de Lisboa do PCP, quanto a isso não temos dúvidas. E, já agora, chamas-te Noémia ou Helena Faria?
Ao silêncio dela, Mateus Júnior respondeu com um grito zangado.
– Estás a ouvir o que te pergunto? Estou a falar contigo.
– Vou-te outra vez às trombas se te armas em mula. Responde, minha cabra de merda. Chamas-te Noémia ou Helena Faria? – Questionou, ameaçador, o Gonçalves, preparando-se para a agredir.
– Chamo-me Helena Faria, mas isso pouco interessa. Não foi por causa do meu nome que me prenderam. É verdade. Sou militante do Partido Comunista.
A cedência foi ditada pela raiva. Noémia, desfeita em frangalhos, já não se importava com a morte. Até a desejava ao martírio que lhe ofereciam.
O Agente Gonçalves não resistiu à confissão serena e firme que acabara de escutar e tornou à sevícia, de cabeça perdida.
– És uma porca. Traidora que vendes a tua Pátria aos russos. Cabra sem vergonha!
Mateus Júnior voltou a apaziguar a fúria do subordinado, que espumava como um cão raivoso.
– Calma, calma! A doutora até se está a portar bem. Disse o seu nome verdadeiro e confessou que é militante do Partido Comunista. Já tem direito a pensão completa no Aljube.
Largou o processo que tinha nas mãos e encarou a mulher.
– Agora vamos ao resto. O atentado à bomba contra o Senhor Presidente do Conselho. Tu és responsável pelo Comité Local de Lisboa, logo és a pessoa indicada para nos contares como foi organizado o ataque, onde compraram os explosivos, quem foram os teus camaradas que colocaram a bomba, quem a fez explodir, enfim, essas coisas todas.
– Os senhores estão enganados. O meu Partido não mandou executar qualquer atentado e somos contra esse tipo de ações.
Gonçalves soltou uma gargalhada áspera.
– Ela diz que são contra. Queres que te vá às trombas outra vez? Ai, queres, queres.
– Até pode matar-me. O Partido não tem nada a ver com isso.
Mateus Júnior estranhou a resposta.
– Não te percebo. São contra o atentado e contra Salazar. Isto faz algum sentido na cabeça de um homem normal?
– Somos contra a Ditadura e contra a política de Salazar. Mas a nossa luta é política e não contra esta ou aquela pessoa. Esse tipo de ações aventureiras só reforça a posição do ditador e acrescenta vítimas às vítimas. Como é o meu caso.
– És mais mentirosa que Judas. – Vociferou Gonçalves.
– É esta a verdade! – Respondeu com firmeza.
Nenhum dos dois acreditou nela. Não fazia sentido a explicação que a mulher acabava de dar. Mateus Júnior pegou nos papéis e levantou-se para sair da sala.
Avisou-a:
– A tua verdade não bate certo com a nossa. Deixo-te com o meu colega. Ele tem artes para descobrir onde estás a mentir.
Saiu. Gonçalves pegou na chibata, puxou-a pelos cabelos e informou-a:
– Isto só vai acabar quando te portares como uma mulherzinha e acabar essa conversa de puta!
A chibata tornou a zunir contra o corpo de Noémia.
Na sala a lado, o ambiente era de chumbo. Mais do que as dores físicas das tareias policiais, José Lopes travava uma luta inglória contra o sono. Há cinco dias que o obrigavam à insónia e a lucidez foi substituída por um universo fantástico infestado de animais grotescos, insetos desnorteados, fantasmas que riam às gargalhadas. As vozes de Antero da Luz e de Samuel Maneta soavam longe, e o corpo tornou-se indolor à violência da régua e dos pontapés.
Voltou a cair quando recebeu nova saraivada de pauladas e, ao longe, escutava vozes bestiais que berravam:
– Fala, meu cabrão! Fala, filho da puta! Fala!
Dentro de José Lopes o silêncio era cada vez mais agudo. Quando entrou na António Maria Cardoso, levava esse propósito. Os seus lábios não produziriam uma palavra que fosse. Não daria aos seus inimigos a consideração de uma conversa, de escutarem a sua voz. Era riqueza para distribuir entre os amigos, não podia ser partilhada com assassinos e não falou. Agora, cinco dias depois, mesmo que quisesse, já não encontraria palavras, apenas um deserto infestado por morcegos fantásticos, cobras que lhe subiam pela cabeça em remoinhos de delírio.
Almeida Júnior entrou na Brigada para avisar os colegas de que o barulho da sova se ouvia na rua, porém, a raiva de ambos era tal que não quiseram escutá-lo.
– Fala, canalha. Fala!
– Vais morrer aqui, grande cão.
O recém-chegado Agente acabou por gritar quando se apercebeu de que o corpo estendido já não reagia aos pontapés.
– Parem! Parem!
Aos gritos de Almeida Júnior acorreram Mateus Júnior e Baltar. O jovem ajoelhou-se junto ao preso.
– Esse animal está a fazer fita para dormir. – Diagnosticou Mateus Júnior.
Antero alvitrou, ofegante, enquanto colocava o varapau num canto da sala.
– É um desmaio. Há cinco dias que leva nas trombas.
Aflito, Almeida Júnior tomou-lhe o pulso e com energia massajou-lhe o coração. Encostou o ouvido ao peito de José Lopes e disse:
– Não tem pulso. Não se ouve o coração.
Tornou a massajar-lhe o peito com mais violência perante o bando que assistia, impávido. Apalpou-lhe o pescoço e, por fim, com as mãos coladas ao chão, cabeça baixa como se estivesse envergonhado, murmurou:
– Está morto!
* * *
Amorim olhou, incrédulo, para Mateus Júnior e Baltar.
– O preso morreu? Outro? Ainda o mês passado mandámos para as alminhas o vadio do Augusto Martins.
Referia-se a um outro detido que fora abatido pela polícia política.
– Este devia sofrer do coração ou coisa do género. Levou uma ou outra estalada, mais nada. – Adiantou Baltar.
Amorim não conteve um sorriso bem-disposto.
– Chefe, essa das estaladas não dá. Somos uma família e sabemos como estes problemas acontecem.
Mudando de tom, aconselhou os dois Chefes de Brigada.
– Vocês sabem o que pensa o nosso Diretor-Geral. Não queremos mortos. Só servem para os vadios do reviralho os transformarem em vítimas. Temos prisões e campos de concentração com fartura para guardar esses animais e vocês têm de obrigar os vossos homens a estudar a arte do interrogatório. Existem métodos sofisticados para conseguir confissões para além da chibata e do pontapé. Processos que até são mais violentos e produzem melhores efeitos. Vejam os alemães.
– Segundo sei, os nazis matam que se fartam. – Contrapôs Mateus Júnior.
– Estudem técnicas de interrogatório, meus senhores. Destruí-los, sim, matá-los, não.
– O que fazemos do morto? – Quis saber Baltar.
– Escondam-no e quando chegar a noite metam-no na mala do carro.
– No carro? – Perguntou Mateus Júnior. – Há pessoas lá fora que sabem que o prendemos.
– Não faz mal. Até vai servir de lição para os amiguinhos desse José Lopes. Eu próprio farei as notícias para os jornais. Vocês saíram em diligências com o bandido e ele tentou fugir. Foram obrigados a disparar para evitar a evasão.
– Sendo assim, temos de lhe dar um tiro. – Adiantou Baltar.
O Capitão acenou afirmativamente.
– Claro! Mas fazem isso na rua para não sujar mais o chão.
* * *
Almeida Júnior entrou discretamente numa tasca, perto do Cais do Sodré. Teve a preocupação de olhar para todos os clientes e, finalmente, dirigiu-se à mesa onde o Capitão Baleizão do Passo já o esperava. Também ele se resguardara. Vestia à paisana, chapéu descaído sobre a testa, evitando ser conhecido.
Pediu duas cervejas e abordou o seu antigo subordinado.
– Desculpa ter ligado, mas julgo que talvez me possas ajudar. É sobre um rapaz que se apresentou na minha esquadra. Fiquei com boa impressão dele, no entanto, soube que ficou preso lá em cima.
Referia-se à Polícia de Vigilância do Estado.
– O José Horta.
– Esse mesmo.
– Não peça desculpa, meu Capitão. Eu é que agradeço. Ou falo com alguém de confiança ou rebento. – Desabafou o Agente.
– Deixa-me ver se adivinho. O grupo do Alto do Pina.
– Como é que sabe? – Perguntou, surpreendido.
– O meu mindinho sabe o que vai na cabeça das pessoas que reconheço como sérias. – Gracejou enquanto mostrava o dedo.
– Não cola, Senhor Comandante. Nada cola. Aquela malta entrou em roda livre, encantados com a bufadela de um tipo que apareceu fardado de legionário. O Leonel da Mouraria, chulo profissional e bufo por interesse, para que ninguém lhe estrague o negócio com o putedo.
– Dizem os jornais que os homens confessaram.
Almeida Júnior bebericou a cerveja, olhou em redor, e murmurou:
– Confessaram. Confessaram através do método que o Senhor Comandante conhece. Levaram tanta pancada que, às tantas, assinaram aquilo que lhes puseram à frente. O Mateus Júnior escreve os autos como entende e eles assinam. Não há uma única confissão que seja consistente. Nem uma! São todas iguais e sem correspondência com aquilo que se passou. – Tornou a molhar os lábios e baixou ainda mais o tom de voz. – Depois há outro problema. Bem mais grave.
– Qual? – Baleizão do Passo debruçou-se sobre a mesa, atento ao que o antigo subordinado ia dizer.
– Se eu tiver razão, os verdadeiros terroristas estão à solta e podem atacar outra vez.
A expressão do Capitão endureceu.
– Tens razão. Não tinha pensado nisso.
Era uma verdadeira ameaça. O excessivo convencimento de que o caso estava resolvido podia ser uma porta aberta para males maiores. O Capitão desconhecia pormenores do crime, no entanto, a experiência que vivera, enquanto diretor, na António Maria Cardoso ensinara-lhe que a explosão era resultado de homens bastante determinados. Talvez nem fosse alguém do Partido Comunista, mais mobilizado para a luta política e para a insurreição contra o Estado Novo. O atentado revelava ódio pessoal, vingança extrema, arquitetado sob forte emoção.
– Não sei o que hei de fazer. – Desabafou Almeida Júnior.
– O Antero da Luz e o Samuel Maneta estão metidos nesta investigação?
– Andam à caça de comunistas. O Diretor-Geral afastou o pessoal do Capitão Maia Mendes. É ele e o Capitão Catela que comandam. No terreno está gente dos Chefes Baltar e Mateus Júnior. Eu dei apoio quando me pediram. Foram eles que patrocinaram esta loucura contra os bêbados do Alto do Pina. Chegámos a isto. Perseguimos bêbados. – Repetiu, descoroçoado.
Baleizão do Passo remirou o movimento da taberna. Não lhe saía da cabeça a simplicidade de José Horta. Fora entregar-se para esclarecer a sua inocência e decidiram que merecia estar preso.
– O Horta, o mais novo, também confessou? – Perguntou ao Agente.
– Aceitou assinar a confissão que lhe puseram à frente, depois de umas dezenas de horas sem poder dormir.
– É dos diabos!
Terminaram as cervejas. Almeida Júnior deixou cair um lamento com evidente amargura.
– Não sei se quero continuar ali. Tenho apreço pelo Professor Salazar, sou apoiante do Estado Novo, mas não nasci para testemunhar tanto disparate.
Despediram-se. O rapaz saiu apressadamente e o Capitão, para ganhar tempo, dirigiu-se ao balcão. Pediu uma onça de tabaco e um livro de mortalhas. Ficou pensativo, enquanto enrolava o cigarro. A conversa com o seu antigo subordinado confirmava as suas piores suspeitas. Os autores do atentado continuavam à solta e exclamou num sussurro:
– A vida de Sua Excelência corre perigo.
* * *
Albertina estava sentada, nua, encostada às ferragens da cabeceira da cama. Fumava com gestos rápidos, agitada, denunciando a irritação. Arengas, deitado a seu lado, apreciava os belos seios redondos e rijos da esplendorosa companheira. Não conseguiu evitar uma provocação.
– Continuo sem perceber como é que o teu marido se deita ao teu lado e não se interessa. O teu corpo respira sensualidade. – Comentou, afagando-lhe a coxa.
– Não me aborreças com conversas parvas.
Respondeu rude, esmagando o cigarro com fúria contra o cinzeiro de lata que se encontrava sobre a mesinha-de-cabeceira.
– Desculpa, não te queria ofender. Estivemos a fazer amor e, de repente, ficaste com essa cara de poucos amigos. Magoei-te?
Albertina começou a vestir-se. Era manifesta a má disposição.
– Cada vez me custa mais regressar a casa e ter de aturá-lo. A paixão por Salazar subiu-lhe à cabeça. Prenderam os terroristas que puseram a bomba na Barbosa du Bocage e chegou a casa aos gritos, histérico, louvando a sua Polícia. Queria, por força, que fôssemos à Igreja de São Roque darmos uma volta de joelhos, rezando o terço para agradecer a Deus.
– Agradecer o quê? – Arengas perguntou, atónito.
– Sei lá! Eu percebo alguma coisa de política? Não posso falar quando Salazar discursa na rádio, tenho de rezar o terço por Salazar, queria que andasse de joelhos por Salazar. Raios! Porra para esse Salazar! – Gritou, exasperada.
O rapaz esbracejou, assustado.
– Fala baixo. Tu queres ser presa?
– Não era má ideia. Livrava-me do Carolino e do Salazar. Estou farta, farta!
Arengas agarrou-lhe o braço, impedindo-a de sair.
– Gostava que não te fosses embora tão zangada.
Caiu em si com um suspiro profundo. Abraçou-o.
– Desculpa, não tens nada a ver com esta demência que me cerca.
Arengas acolheu-a nos braços com ternura. Beijou-lhe os cabelos.
– Queria tanto que não fosse assim. – Sussurrou.
– Nem eu. És a luz que ilumina a minha triste vida.
Tinham engendrado muitos planos para sair daquele tormento clandestino. Construíram sonhos que foram esbarrando na crueldade dos dias. Uma paixão intensa cercada por barreiras que impediam a livre aventura do amor. Albertina não dispunha do seu tempo, contaminado pelas obrigações que, era forçoso, a mantinham no palco familiar e social onde se movia. Libertar-se por instantes, meia hora hoje, uma tarde por semana, era disponibilidade curta para quem tanto se queria. Arengas, sufocado pelo trabalho, manietado pelos preconceitos de uma vida quase a roçar a miséria, crente nos avisos de Simão, adivinhava todas as tempestades para o dia da decisão final, pois não era apenas a realidade a ser vigiada. O Regime incorporava no discurso de poder uma dimensão religiosa medieval, onde a censura social era o grande polícia das aparências e o divórcio tido como agressão a pedir fogueira inquisitorial, dizia-lhe o colega de Brigada.
Arengas sabia que era assim. Também Albertina conhecia o risco. Sobretudo porque descobrira quando começara a paixão do marido por Salazar.
Quando o pai morreu, o velho Barão Temperado, bruto no falar mas astuto como uma raposa, deu um murro valente nas expectativas de Carolino. Pôs a salvo a fortuna e garantiu uma renda generosa às duas filhas para que pudessem viver condignamente até que Deus as chamasse. O genro estremecido entrou em desvario. O raio do sogro cortara-lhe o acesso ao pote do mel e, ao mesmo tempo, impunha-lhe o casamento com a filha, caso quisesse lambiscar da pensão que fixara para o casal. Se até ao funesto evento ainda se esforçara por revelar atenção para com Albertina, a partir daí nem essa elementar mordomia restou. A esposa passou ao estatuto de ornamento que tinha a singularidade de receber uma boa mesada. Encontrava o prazer em crianças que alugava, com a obrigação de serem virgens, e devotara-se à grandeza do Império. Coronel convertido em monge do Estado Novo, enfileirado entre os homens maiores que lideravam os destinos da Nação, cruzado de espada desembainhada ao serviço do seu Senhor.
– Porque não o largas e vais para o Porto? – Sugeriu Arengas. Perante a surpresa dela, explicou-se: – É a tua terra, a tua irmã vive lá e eu posso pedir a transferência. Nada me liga a Lisboa a não seres tu.
Ficou em silêncio. Já pensara naquele projeto, mas não se atreveu a ir mais longe.
– Ele não me vai deixar em paz.
– Se o teu marido quer estar contigo para se abotoar com a pensão que o teu pai te legou, deixa-lhe metade e vais ver que não quer mais saber.
– Não lhe conheces a vaidade. Aprendeu a andar de queixo levantado como o Mussolini, o bigode é igual ao de Hitler e imita Salazar quando fala. Saber-se abandonado pela mulher de quem é dono seria a minha morte, em nome da sua honra ofendida.
– Dá a volta ao assunto. É a tua irmã que está doente, que necessita da tua ajuda. Não precisa de saber que o abandonaste e dás-lhe uma justificação que serve às mil maravilhas para essas coisas da honra e da vaidade. Não o deixaste, apenas foste cuidar de um familiar. Desde que não falhes com o dinheiro, é uma boa desculpa.
Hesitou por instantes. Talvez não fosse tão simples como o Arengas sugeria, todavia, era um caminho a explorar.
– Preciso de falar com a minha irmã. – Decidiu-se por fim. Voltando-se para ele, perguntou, desconfiada: – Tens coragem de pedir transferência para o Porto e de estares comigo?
– Seguirei os teus passos, fazendo deles a minha própria vida.
Tornaram a abraçar-se, emocionados. Surgia uma ténue luz de esperança a abrir o horizonte dos dois amantes. Enlevados, saíram da pensão. Distraídos. Não repararam que estavam a ser vigiados por um homem, que os fotografava no cimo da rua.
* * *
Tibornas aproximou-se da mesa onde almoçavam Simão e Eurico. Comiam feijão com massa.
– O que é feito do Arengas? Deixou de aparecer para almoçar e é doido por este petisco que estão a comer. Que se passa com ele? Pouco cá vem. Estará zangado comigo? É do cacete!
Eurico respondeu secamente:
– Anda por aí. Não sei.
O taberneiro não compreendeu a indiferença dos rapazes e continuou:
– Eu tenho uma teoria.
– Lá vem mais uma teoria do Tibornas. – Suspirou Simão.
– Vocês vão ver, se tenho ou não tenho razão. O maganão emprenhou uma flausina e agora anda de aflições. Quando aparece, vem sempre com cara de poucos amigos, bebe um de três sem dizer palavra e ele aí vai na ganga da moina. Se aquilo que digo não é verdade, macacos me mordam! Conheço aquele trombil à distância. E está entalado. Se ela não quiser desemprenhar, tem de a gramar. Vai ter casamento para o resto da vida. É do cacete, pá!
Terminou com gravidade, aparentemente preocupado com o destino fatal do Arengas, vigiando a reação dos comensais.
Foi Eurico quem lhe respondeu:
– Não tens vergonha de inventar essas teorias manhosas apenas porque o Arengas não quer ver as tuas trombas? Ele está de boa saúde e recomenda-se. Não arranjes desculpas para o vinho merdoso que serves às pessoas. Ninguém está obrigado a comer nesta casa que cheira a azedo. Ou achas que nos fazes um favor? Deixa o homem em paz.
A resposta incomodou o taberneiro, que protestou:
– Não inventei nada. Fiz uma suposição, c’um cacete! Acho estranho ele não aparecer como aparecia. Pronto! É só isso. Não precisas de dizer que a minha casa cheira a azedo. – Levantou o nariz, como se estivesse a farejar, e teimou: – Onde é que cheira a azedo? Onde? Cheira a feijão.
Simão abandonou os talheres e cortou-lhe a palavra:
– Já fizeste o teu espetáculo da hora de almoço. Estás de parabéns. Agora, vai tratar dos outros clientes porque queremos comer sem teorias de faz de conta. É possível?
Tibornas afastou-se, resmungando, a limpar as mãos na toalha encardida.
– Este tipo é mesmo pintarolas. Não perde o hábito de mandar palpites e inventar historietas. É sempre a mesma coisa. Quero zangar-me com ele, mas não sou capaz. É tão trafulha que só dá vontade de rir. – Comentou Eurico, bem-disposto.
A refeição estava no final. A manhã fora passada nos elétricos que giravam pela cidade, à procura de carteiristas, numa operação que metera várias brigadas. Era sempre uma festa. O Chefe Pereira dos Santos conhecia-os como se fossem da família e não perdia tempo a prendê-los. Chegava perto de cada um e ordenava:
– Põe-te a caminho do Torel. Eu já lá vou ter contigo.
Eles obedeciam sem protestarem, nem ousarem escapulir-se. Os Agentes ficavam fascinados com a eficácia do Chefe na rua. Conhecia os cantos mais escusos, os personagens mais extraordinários, que cumprimentava, alguns com abraço, e segredava para os funcionários:
– Este prendi-o há quatro anos. Um gatuno valente.
Ficava atento à plataforma de acesso ao transporte público e, de repente, ordenava:
– Papa-Missas, não entres. Põe-te a caminho do Torel que eu já lá vou ter contigo. Por hoje, vais fechar a loja e não roubas mais carteiras.
Quando regressavam à Sede, depois de cumpridas as carreiras que haviam sido determinadas, lá estavam o Papa-Missas, o Pichelim, o Cu de Melão, o Fred Astaire e outros tantos habilidosos de dedos, esperando num farsante respeito a chegada do Chefe.
Arengas tinha faltado à diligência e Eurico perguntou a Simão, baixando a voz:
– Agora que o Tibornas não nos está a ouvir, sabes se se passa alguma coisa com o Arengas? A verdade é que ele mudou de comportamento. O antigo espalha-brasas deu lugar a um homem mais ponderado.
– É verdade. A idade traz essa qualidade. – Retorquiu o outro sem se alongar em explicações.
Também ele estava preocupado. Embora não tivessem falado mais sobre o assunto desde que Arengas aproveitara o anoitecer no Campo dos Mártires da Pátria para confessar a sua paixão, todos os dias vigiava o humor do amigo. Pressentia que, a qualquer momento, poderia desmoronar-se o mundo de ilusões em que ele e Albertina habitavam.
– Sabes alguma coisa que eu não saiba? – Eurico desconfiou do silêncio dele.
– Talvez. Não sei. – Respondeu Simão, evasivo, evitando voltar a falar sobre o Arengas.
– Posso saber o que te preocupa?
Era um bom momento para expor um caso que, no dia anterior, o intrigara quando, por força do ofício, foi à morgue.
– Ontem estava na sala de autópsias o cadáver do tipo que veio nos jornais como tendo fugido à Polícia de Vigilância e Defesa do Estado e, por tal razão, foi abatido. Um tal José Lopes, que era supostamente anarquista.
– Eu li.
– O caso não pode ter acontecido como foi relatado.
– Porquê? Se a polícia política não quisesse que se soubesse que o tinham matado, não dava a notícia.
– Pois. Lá isso é verdade. Mas morreu noutras circunstâncias.
Eurico pousou os talheres, atento às palavras do colega.
– O que queres dizer, Simão?
– Nada de especial. Observei o cadáver. Os dois ferimentos que se veem nas costas resultaram de tiros quando o homem já estava morto. Os ferimentos não sangraram. Não são disparos contra um fugitivo, mas sim à queima-roupa. Ambos tinham uma auréola de pólvora em torno dos orifícios de entrada. Os tiros foram a cerca de vinte centímetros. E há mais.
Eurico empurrou definitivamente o prato. O apetite fora-se embora perante o relato que ouvia.
– Há mais? – Perguntou a medo.
– Tem ferimentos no peito, no rosto e na cabeça. Lacerações que rasgaram o couro cabeludo, um grande hematoma no maxilar direito, que deve ter sido consequência de uma forte pancada, talvez um soco. No tórax há várias impressões modeladas como se tivesse sido brutalmente agredido com uma tábua ou uma régua. – Foi a sua vez de abandonar o repasto para sentenciar: – Aquele infeliz foi morto por espancamento no interior da PVDE. Não tem um único ferimento de defesa nem nas mãos, nem nos braços. Significa que não se defendeu das agressões. Os tiros nas costas apenas serviram para simular uma perseguição de rua que correu mal.
Ficaram os dois em silêncio. A argúcia de Simão muitas vezes encantava os companheiros de Brigada. O próprio Chefe escutava com orgulho as deduções do detetive. Era um encanto vê-lo a chegar a conclusões a que os outros demoravam muito mais tempo para compreender. Porém, naquele momento, não só perdeu o apetite como ficou perturbado.
– O que pensas fazer?
– Nada. O caso não é nosso. Foi mera curiosidade, mais nada. A Polícia de Vigilância e Defesa do Estado não permitirá que se proceda a qualquer investigação. Aliás, a autópsia foi vigiada por um Chefe de Brigada deles.
– Um bando de assassinos. – Murmurou Eurico, revoltado.
– Não direi tanto, mas que este homem foi morto a pontapé, não tenho dúvidas.
Para ele não era mais do que um exercício inteletual. Um encadeamento de silogismos, a partir de observações empíricas, que escalpelizava em finas fatias, analisando-as uma a uma, para depois voltar a reconstruir os factos que lhe abriam as portas à dedução.
– Não percebo como um homem tão inteligente como tu não vê o que se passa no País. A PVDE libertou o medo e pôs um povo inteiro amedrontado a olhar por cima do ombro. – Comentou Eurico depois de ter visto que ninguém os escutava.
– Eu sei. – Respondeu Simão lacónico.
– É só isso que tens para dizer? Eu estou farto. Farto! Uma das minhas maiores vergonhas é saber que as pessoas com quem falamos nos confundem com essa corja. Que nos julgam da polícia política. Tenho vergonha de viver num País onde um bando de malfeitores comanda, através do medo, o destino de milhões de desgraçados.
Simão fez-lhe sinal, ele devia domar a revolta.
– Nada mudará por sentires vergonha, nem que eu me arme em cavaleiro andante denunciando o caso que te contei. Apenas corremos o risco de perder os nossos empregos. Faz como o Arengas. Discute bola e mulheres. Neste momento, nada mudará o estado de coisas em que vivemos. Só a História se encarregará desse feito e duvido de que estejamos vivos quando tal acontecer. Vamos pagar o almoço?
* * *
Chico Saloio parou a dez passos da entrada da PVDE e perguntou ao Arrinca:
– Queres mesmo fazer isto?
– Não há outro caminho. Vou contigo – Respondeu, convicto.
– Temos de ser fortes, Arrinca. Eles vão querer dobrar-nos.
– Nem a fome me fez quebrar, quanto mais esses merdas.
– Eles são piores do que a fome.
– Matam-nos? Pouco importa. Eu já morri há muito tempo.
Carregavam uma cruz bem pesada e, agora, ali estavam na António Maria Cardoso dispostos a cumprir a penitência, fosse qual fosse a dimensão do martírio.
Chico Saloio fora o primeiro a deixar de dormir quando soube da prisão do grupo do Alto do Pina. Os jornais diziam que estavam presos cinco terroristas por um crime que ele cometera. A alegre necessidade de celebrar a injustiça, através de notícias de exaltação às virtudes justiceiras da Polícia, revoltara-o ainda mais. Estavam presos cinco inocentes. Gente que nem imaginava como foi preparado o atentado.
No dia em que, no seu carro de praça, foi à Mina de São Domingos comprar o dinamite com dinheiro que o Silvino e o Santana angariaram junto dos republicanos catalães, o Fernando do Talho perguntou-lhe.
– Não te assusta irmos a caminho de Lisboa sentados sobre dez quilos de dinamite?
– Se explodir, acaba-se tudo. Já não suporto viver assim. Estamos num País onde os mandantes falam da glória do Império e a miséria é a verdadeira glória dos pobres. Os meus filhos há dois dias que não comem. Esta manhã, antes de virmos para o Alentejo, doía-me tanto o estômago que roubei uma batata para sossegar a fome. Isto é viver?
– Quando matarmos Salazar, tudo vai mudar.
Afinal, nem Salazar morrera e um anjo vingador enviara-lhes aquele cálice amargo. Cinco inocentes para alimentarem a sua consciência de culpados.
Não viveria com aquele peso sobre os ombros. Era dor em demasia para um homem a quem a vida já devastara todos os sonhos. Chico Saloio era filho da roda dos expostos. Nunca conheceu os pais e foram as freiras do convento, para os lados de Odivelas, que o ajudaram a sobreviver. Recordava os primeiros oito anos da sua infância como o tempo mais doce que se abrigava na sua memória. Cresceu entre mulheres bondosas. Particularmente a Irmã Gertrudes, que lhe ensinou as primeira letras e a pentear-se. Também o ensinou a sorrir, coisa que mais tarde esqueceu. Depois, a vida mostrou-lhe o caminho da amargura quando foi transferido para uma Casa de Trabalho. Para além de freiras, o novo refúgio era comandado por um frade que usava um chicote enrolado na cintura. Era o instrumento de ensinança, que reforçava com uma menina-de-cinco-olhos. Todos os rapazes do albergue, ao acordarem, na oração matinal, já não pediam a Deus que o dia passasse sem sentirem a chibata nas costas ou a palma de madeira que lhes inchava as mãos. O castigo já era certo. Imploravam que o zelador batesse pouco e a piedade divina não entrava naquele coração. Invariavelmente o azorrague assobiava pelos ares à procura do seu corpo ou de qualquer outro dos seus companheiros de infortúnio.
Chico Saloio suportou os castigos durante dois anos até que uma camioneta carregada de sacos de trigo foi descarregar piedosamente uma oferenda para fazer pão para as crianças abandonadas. Discretamente trepou pela carga, escondeu-se no cimo, espalmado, agarrou-se ao cordame que segurava os sacos e deixou que a camioneta o levasse. Qualquer sítio servia, desde que fosse longe da chibata do frade zelador.
O condutor parou perto dos enormes celeiros que se encontravam junto ao Tejo. Chico desceu, rápido, do esconderijo e não sabia que acabava de entrar em Lisboa.
Desde então, passou a ser a sua casa. Jurou a si próprio que nunca mais viveria cercado de muros e tomou as ruas e as praças como suas, e, mais tarde, do seu bando de pés descalços. Até que chegaram os automóveis. Eram cada vez mais, buzinas estridentes que assustavam pessoas e galinhas, que empinavam cavalos surpreendidos e alvoroçavam transeuntes. O fascínio tornou-se paixão e, um golpe de sorte, fez dele motorista.
O menino Ambrósio, filho do Doutor Teodoro, patrão da Margarida, criada de servir com quem o Chico começara a namoriscar, ao fazer uma curva no Ford descapotável que o pai lhe oferecera, derrapou na gravilha e tombou. O condutor sangrava abundantemente da cabeça e gritava com dores num braço.
Chico reconheceu o menino Ambrósio, pediu ajuda a pessoas que passavam para levantar o Ford, recolheu o ferido e, destemido, sentou-se ao volante conduzindo a bela viatura até São José, onde trabalhava o Doutor Teodoro. Levava-lhe o filho nos braços para que ele, que curava os dos outros, agora tratasse do seu.
Não foi um médico, apenas um pai assustado quando viu Ambrósio tão maltratado e o desejo de gratidão para com o seu salvador manifestou-se no dia seguinte. Convidou-o para conduzir o carro e acompanhar o filho, pois o braço partido não lhe permitia tal função.
Nunca mais largou o volante. Ter sido motorista de confiança do afamado Doutor Teodoro abriu-lhe as portas de outros automóveis até que se transformou em motorista de carro de praça. Foi então que se juntou com Margarida. Julgavam eles que a vida lhes sorriria. Puro engano. Aprenderam juntos que viver era privilégio de alguns. Habituaram-se simplesmente a sobreviver.
O Granja exaltou-se quando soube do martírio de Chico Saloio. O Raul Pimenta até o chegou a ameaçar com uma faca. O Vaz Rodrigues assustou-se e implorou-lhe que não cometesse tão grande erro que punha todos em risco. O Santana exaltou-lhe a nobreza moral, revelando-lhe que, por vezes, a luta política obrigava a sofrimentos que não se esperavam. O Fernando do Talho trouxe-lhe coiratos e osso de porco para alimentar os filhos e a promessa de que, se estivesse calado, não lhe faltariam em casa iscas ou pezinhos de borrego que pudesse tirar da loja sem que o patrão visse.
Em vão. A insónia tomou-lhe conta dos dias. As imagens dos cinco desgraçados gemiam na sua cabeça, apontando-lhe os dedos acusadores por se abrigar na cobardia, e a dor no peito nunca parava. Foi Arrinca quem o fez tomar a decisão definitiva quando lhe segredou que andava desorientado com tamanha injustiça. Chico queria dar cabo de Salazar porque descobriu, com o andar do tempo, que regressara à Casa de Trabalho, murada, cercada de vigias e pejada de chibatas, embora fosse do tamanho do País. Arrinca não pensava assim. Vivia um sonho. Matar o Botas seria o fim da sua desgraça. Das idas à Sopa do Sidónio. O fim da tuberculose que lhe matara a mulher e o filho. A cidade farta de comida sem senhas de racionamento. O paraíso na terra. Se o Diabo era o responsável por todos os pecados dos homens, Salazar era culpado de todo o sofrimento que esmagava os mais pobres servos de Lisboa.
No entanto, nenhum destes delírios que os aproximara para destruir a peçonha quebrou o sentido moral das suas vidas. Era-lhes insuportável que os justos pagassem pelos pecadores. Nenhum dos dois infelizes conseguia ultrapassar o limiar onde a dignidade se prostitui até contrair a sífilis da canalhice. Agora, ali estavam, à porta da António Maria Cardoso, dispostos a apagarem o fogo que lhes abrasava as entranhas.
O coronel Carolino cruzou-se com os dois motoristas à entrada. Reparou na ansiedade de ambos e perguntou:
– Os senhores, façam o obséquio. Necessitam de alguma coisa?
– O senhor é da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado? – Perguntou Chico Saloio.
– Sou, por acaso, até sou um dos responsáveis. Com quem tenho a honra de estar a falar? – O tom cerimonioso encorajou-os.
– Chamo-me Francisco Damião, mais conhecido por Chico Saloio, e sou motorista de carro de praça.
– Eu sou o Arrinca e também taxista.
– Muito bem. O que desejam desta humilde instituição? Vêm fazer uma denúncia ou dar alguma informaçãozinha?
Era um cavalheiro! Homem de uma cortesia tão elegante que, por momentos, duvidaram das histórias terríveis que se contavam sobre as manobras da PVDE.
– Viemos entregar-nos. Nós pertencemos ao grupo de patriotas que colocou a bomba na Avenida Barbosa du Bocage. – Declarou Chico Saloio.
– Mais dois? – Perguntou o coronel, incrédulo.
– Não, meu senhor. Somos outros. Os do grupo do Alto do Pina, que vocês prenderam, estão inocentes. Foi o nosso grupo que cometeu o atentado.
– Qual grupo? – Inquiriu Carolino, desorientado, sem perceber a conversa.
– Fomos nós que colocámos a bomba! – Repetiu Chico Saloio com firmeza.
O homem ficou lívido. Olhou-os e parecia atemorizado com a visão de fantasmas.
– Têm a certeza? – Perguntou, sem encontrar palavras para debelar a surpresa.
– Contaremos aquilo que sabemos. Com uma condição: têm de libertar os homens que prenderam injustamente. – O Arrinca tentou negociar a rendição.
– Sim. Pois claro. Não sei. Sim, sim. Venham comigo.
Carolino abriu-lhes o caminho. Quem visse a procissão duvidaria sobre a condição dos personagens. Os taxistas seguiam em passo firme. O coronel cambaleava com a força do choque que acabara de receber. Mais parecia um dos presos que infestavam a sua Polícia.
* * *
O Capitão Amorim olhava alternadamente para o Agente Rosa Casaco e para as fotografias que este lhe entregara. Sorriu misteriosamente.
– Não há dúvidas. É ela. Reconheceste o homem?
– É um tipo moreno, atlético, mas acho que nunca o vi.
O Capitão tornou a observar as fotos.
– Tenho sérias suspeitas de que esta mulher se aproveita da bondade do nosso coronel Carolino para trair a nossa organização.
– O que devo fazer, Senhor Diretor?
– Nada. Continuas a segui-la e nem uma palavra sobre este trabalho. É, apenas, um serviço entre nós os dois. Segredo absoluto.
* * *
Granja bufava. Numa casa em ruínas, abandonada, na Madragoa, Vaz Rodrigues e Raul Pimenta assistiam com inquietação ao desabar da fúria do motorista. Pontapeou uma velha cadeira, esbracejou enquanto praguejava e encostou a cabeça à parede fria para acalmar.
– São estes os homens que querem derrubar a Ditadura. Fogem para o estrangeiro ou entregam-se à polícia política. Fogem os políticos, entregam-se os medrosos e nós ficamos nas mãos destes palhaços.
– Tens a certeza de que o Santana fugiu?
– Disse-me o Manel Tassara, que não é homem de aldrabices. Fugiu para Inglaterra e foi o Porta-Aviões quem deu boleia ao Chico Saloio e ao Arrinca até ao Chiado quando se foram entregar. Uns merdas! Não se pode confiar em ninguém. – Em tom desafiador, questionou os dois companheiros: – E vocês? Qual de vocês vai fugir ou entregar-se?
– Eu não me entrego. Não tenho saúde para estar na prisão. – Adiantou Vaz Rodrigues.
– Devia ter despachado o Chico quando veio com a lamúria de que lhe pesava a consciência porque, no seu lugar, estava o grupo do Alto do Pina. Eu não saio daqui, enquanto não matarmos esse estafermo que nos rouba as vidas e a liberdade! – Afirmou, categórico, Raul Pimenta.
Granja deu um violento murro na mesa. Sentia-se encurralado, incapaz de suster as notícias que chegavam. Parecia um bando de pardais assustados a esvoaçar destrambelhado com medo de um tiro imaginado.
– Eu não fugirei, nem me entregarei. Prefiro morrer, matando quem me quiser prender. Não espero nada da vida. Está toda destruída. Que a morte me livre, mas levarei para a cova dois ou três desses assassinos que mandam no País.
Raul Pimenta era o mais frio de todos eles. Já estivera várias vezes preso por furto. Saltitava de oficina em oficina, quando precisavam de serralheiros, incapaz de acertar num emprego, rebelde na alma e na ponta da língua.
Voltando-se para o Granja, avisou:
– Eu nunca falarei com esses filhos da puta. Ainda há de ser feito o chicote que me obrigará a dobrar a espinha.
– Nem o Arrinca, nem o Chico Saloio vão aguentar a carga de porrada que está à sua espera. Só quem por lá passou é que sabe. Da primeira vez que fui preso, primeiro bateram-me com uma régua, depois com um cinto. Por força, que tinha de confessar, e como resisti estive mais de cinquenta horas sem dormir. Quando o cansaço quase me fazia desmaiar, atiravam água fria para cima de mim. É muito difícil passar por aquilo.
Vaz Rodrigues coçou a cabeça e tossiu para o lenço. Os pulmões abrasavam e concluiu:
– Vou sair do circuito normal. Se precisarem de alguma coisa, deixem um sinal nesta casa, que passarei por cá de vez em quando.
Já andara com os anarquistas, antes de Mário Castelhano ter sido preso e deportado, ainda se interessara pelo movimento comunista, contudo, na sua memória fervilhava a saudade da República e do seu ídolo de sempre, Afonso Costa, que recentemente falecera em Paris. Vivia o luto pelo seu herói quando Fernando do Talho lhe contou que um grupo de amigos estava disposto a rebentar com Salazar à bomba. Quis participar, como se fosse a homenagem possível ao estadista que iluminara os dias mais soturnos da infeliz República que o professor de Coimbra acabara por garrotar até à asfixia absoluta.
– Vou continuar a minha vida fazendo de conta que nada aconteceu. Ainda é o carro de praça que me vai matando a fome. – Disse, finalmente, o Granja. E rematou: – Não posso continuar a pensar nestes merdas que fugiram ou se renderam. Não posso!
Saiu porta fora.
* * *
Fraquejaram as pernas ao Capitão Amorim. Teve de procurar uma cadeira para se sentar, enquanto retirava o lenço para limpar o abundante suor que lhe escorria pelo rosto. Voltou a fixar-se em Carolino, que se encontrava à sua frente, e quase num gemido perguntou:
– O senhor fala a sério ou entrou em delírio?
O coronel estava demasiado agitado e sentiu-se ofendido.
– Por quem é, Senhor Capitão. Eu brincaria com uma coisa destas!? Levei os dois para a sala de interrogatórios. Disseram-me nos olhos. Vieram entregar-se e que libertássemos os culpados do atentado porque estavam inocentes. Isto não faz sentido e estou com os nervos em franja. Será que nos enganámos?
O Chefe Baltar, que, até aí, escutara em silêncio a conversa entre os dois superiores, resolveu intervir.
– Talvez fosse melhor informar o Senhor Capitão Catela do que se passa. Ele tem a responsabilidade do caso. Ele e o Senhor Diretor-Geral. Não se lhes pode esconder uma coisa destas.
– Quem é que lhes diz? – Perguntou Amorim, incapaz de raciocinar.
– Eu não serei. Trato do economato dos postos que temos espalhados pelas fronteiras. Não sei nada sobre esses meandros da investigação. – Respondeu firmemente Carolino, furtando-se a mensageiro da notícia apocalíptica.
– Vou pôr os meus homens a tratar dos dois marmanjos. – Acrescentou o Chefe Baltar e, de imediato, saiu do gabinete.
Os dois Pôncios Pilatos lavavam as mãos daquele mistério que, agora, ganhava os contornos de um mostrengo. Dar tal notícia a Agostinho Lourenço era trabalho para um Ulisses que iria enfrentar os maiores desafios até chegar a Ítaca.
Amorim sentiu que se encontrava prestes a despenhar-se num abismo. A ser verdade aquilo que os dois homens afirmavam, não restaria pedra sobre pedra. O hissope de água benta que nas últimas semanas derramara virtudes sobre a PVDE iria secar, e a oposição ao Regime encarregar-se-ia de humilhá-la quer através da imprensa clandestina, quer nos jornais europeus. Considerava-se um homem valente, mas aquela notícia desenhava uma guerra de um só homem contra mil divisões de infantaria. Não se renderia, embora tivesse achado prudente sacudir a água do capote.
Entrou no gabinete do colega Catela e disse-lhe:
– É melhor estares sentado e bem agarrado à cadeira para ouvires o que te vou contar.
– O que foi? – Perguntou Catela, desconfiado.
– Acho que nos espalhámos na investigação do caso sobre o atentado contra Sua Excelência. O Baltar pôs a sua Brigada a interrogar dois tipos que se apresentaram voluntariamente e reclamam a autoria do crime.
– Onde é que eles estão?
– Na sala de interrogatórios.
Saltou, disparado, da cadeira. Não queria acreditar que o seu caso mais importante, que lhe custara o esfriamento das relações com o seu amigo Maia Mendes, fosse um erro.
O Chefe Baltar interrompeu-lhe a marcha apressada. Catela espumava e o subordinado percebeu imediatamente que ia fazer estragos.
– Tenha calma, Senhor Diretor. Não entre ali.
– Como é isto possível, Baltar? Quem são estes palhaços?
– Os meus homens estão a tentar perceber que tipo de gente é esta. Por enquanto, sabemos que são dois motoristas de carro de praça. Um deles já aqui esteve por dois ou três dias. Chamam-lhe o Arrinca. É fraca figura e não vai aguentar o tratamento que temos reservado para ele.
– E o outro?
– O outro tratam-no por Chico Saloio. O verdadeiro nome é Francisco Damião. É mais rijo. Siga o meu conselho e não apareça agora. Oiça os gritos. Até sobem pelas paredes.
Na verdade, pelo corredor ecoavam os gemidos e os gritos de um dos detidos, assim como o som de impactos surdos da tortura.
– Vão falar. – Tranquilizou-o Baltar com um sorriso tranquilo.
– Como é isto possível, Santo Deus? – Tornou a perguntar Catela.
– São espertinhos armados em parvos.
– Será que nos enganámos?
– Nem pense, Senhor Diretor. A rapaziada do Alto do Pina está metida nisto até ao tutano dos ossos. Essa questão nem se põe. O processo foi certinho e bem instruído. Estes que agora chegaram são gente de cabeça perdida que resolveram embirrar connosco.
O Capitão concordou. Não poderia ser outra coisa. Um par de provocadores que tentava pôr em causa a Polícia de Vigilância e Defesa, a mais nobre instituição do Estado Novo. Se era verdade que Salazar era omnipresente, a PVDE aproximava-se dele em perfeição quase absoluta. Não havia recanto de Portugal onde a sabedoria do estadista e a inteligência da PVDE não estivessem.
O Chefe quebrou o silêncio constrangedor que se estabelecera entre ambos.
– Estão à solta muitos inimigos do Regime, Senhor Diretor. Têm vários rostos. Comunistas, anarquistas, maçónicos, reviralhistas, republicanos empedernidos, tudo gente sem escrúpulos, incapaz de apreciar o trabalho que estamos a fazer pelo País. Eu digo-lhe do fundo do coração. O ano passado, inaugurámos o campo do Tarrafal. Foi bom, mas é pouco. Precisávamos de mais dois ou três, em Angola ou Moçambique, com o triplo do espaço, em lugares ruins para que morressem depressa, e enchê-los com estes ingratos. O que estão a fazer na fronteira é uma traição à Pátria.
– Apoiam os republicanos contra os falangistas. – Concordou Catela.
– Pior, muito pior. Dão abrigo, em terras lusitanas, aos cobardes que fogem das tropas dos generais Yague e Mola. Ou paramos de vez estes traidores ou Portugal vai ficar inundado de subversivos. Somos demasiado moles, Senhor Diretor. Demasiado moles!
* * *
Tibornas pôs a toalha ao ombro e com um sinal de dedo chamou Arengas. Havia mistério. Pelo menos na cabeça do taberneiro. Encostou a boca ao ouvido do Agente e segredou:
– Tu estás zangado comigo?
– Eu?
– Para te pôr a vista em cima é do cacete!
– Sou obrigado a vir aqui todos os dias para ver a tua linda cara? Não me chateies, Tibornas. Tenho mais que fazer.
– Emprenhaste alguma garina?
– Estás maluco? – Retorquiu, indignado.
Dúvidas desfeitas na cabeça do velho burlão, veio a intrigalhada.
– Ponham-se a pau. Vai haver um banzé e dos grandes!
– O que foi? – Perguntou, desconfiado.
– Corre uma teoria de que os tipos que a polícia política prendeu não têm nada a ver com o atentado contra o Botas. Diz-se até que foram uns motoristas de carros de praça que fizeram a coisa.
– Quem é que diz? – Insistiu Arengas, ainda mais desconfiado.
– Diz-se. – Respondeu Tibornas, encolhendo os ombros, aproveitando para limpar o balcão com a toalha sebenta, e continuou em surdina: – Não era para te contar isto porque tens andado armado em importantão, sem passares cavaco aos amigos. Enfim, és bom rapaz e tinha de te dizer.
Arengas afastou-se e provocou-o.
– Nunca serás um bom bufo. Não passas de uma alcoviteira. Chega um, contas uma história. Aparece outro e enfias-lhe mais uma patranha. Passas o dia na coscuvilhice. Não tens vergonha de ser um alcoviteiro?
Tibornas não gostou e refilou:
– Estou-te a dizer, pá! Ainda hoje passou por aqui o Espeto de Pau, que trabalha como taxista. Bebeu dois canecos enquanto estávamos na conversa e disse-me: Vai ver, senhor Tibornas. No caso do atentado, a PVDE atirou ao lado. Acertou em cinco distraídos que iam a passar e a caça grossa fugiu.
– Como se chama esse Espeto de Pau?
– Como se chama? É o Espeto de Pau, ora essa!
– Não tem outro nome mais decente?
– Que eu saiba é o Espeto de Pau. É preciso inventar outro nome?
O Agente concordou.
– Tens razão. Se tu és o Tibornas e eu sou o Arengas, não sei como fico espantado por haver um tipo que se chama Espeto de Pau.
O taberneiro sorriu, bem-disposto.
– Tens razão. São nomes do cacete!
– Pronto, já desabafaste? – Perguntou Arengas enquanto procurava moedas para pagar o café.
Tibornas voltou a amuar.
– Não acreditas, pois não? Julgam-se os mais espertos do mundo. Uma pessoa quer ajudar e ainda por cima é tratada com desconfiança.
– Se tens alguma informação importante sobre o atentado na Barbosa du Bocage, fala com um dos teus amigos da polícia política e conta-lhe a história do Espeto de Pau. Eles vão gostar da conversa.
– Eu não tenho amigos na polícia política, estás a ouvir? Eu não sou bufo. – Refilou, indignado.
– Claro que não és. Não passas de uma coscuvilheira.
Pagou o café e voltou-lhe as costas. É verdade que Tibornas tinha uma língua de trapos, um crédulo de todas as conversas dos seus clientes, mesmo quando estavam alvoroçadas pelo álcool, que, depois, replicava dando-lhe os enfeites que a imaginação lhe entregava. No entanto, não tinha dúvidas de que havia algum fundo de verdade naquela história do tal Espeto de Pau. Simão já lhe confidenciara algumas dúvidas, e quando o amigo começava a esmiuçar eventos daquela natureza era difícil ele errar.
Arengas sabia que ele devorava todas as notícias que, em catadupa, surgiam nos jornais. Acompanhara de perto o poderoso movimento dos bispos da Igreja, mobilizando multidões de crentes à oração para agradecer a Deus o salvamento de Salazar, e o discurso que este fizera aos comandos militares, tendo como pano de fundo o atentado.
Simão contara-lhe que, num domingo, depois de almoço, decidiu visitar o local onde explodiu a bomba para perceber a manobra dos criminosos. Já se trabalhava na reparação da avenida, embora estivessem visíveis sinais da explosão. Mediu distâncias em passadas. Procurou vestígios que ainda restassem por ali. Foi com um sorriso que descobriu sinais de sangue junto ao tampão do esgoto. Era claro que a explosão tinha ferido o homem que disparou o percutor. Teriam os Agentes da PVDE procurado nos hospitais? A tampa era pesada e a violência do sopro, devido ao rebentamento, deveria tê-la arrancado a grande velocidade, apanhando o bombista. Examinou-a com atenção. Mais adiante, encontrou dois pedaços de papel queimado nos bordos. Guardou-os rapidamente porque se aproximava um guarda desconfiado, que ordenou:
– Ó cavalheiro, é a andar, a andar daqui. Esta zona está interdita a peões.
Simulou que apertava os cordões da bota, pediu desculpa e afastou-se. Procurou um banco de jardim, no Campo Pequeno, e registou todas as impressões que recolhera.
Guardou os restos de papel e perguntou a si próprio se devia contar ao seu Chefe. Depois, imaginou que Pereira dos Santos iria zurzi-lo por estar a meter o nariz num caso que não era dele, nem de qualquer outra Brigada da Polícia de Investigação Criminal.
Ia entrar no Torel, quando avistou Arengas a aproximar-se. Esperou por ele.
– Tenho novidades para ti.
– Acabaste o teu romance com a mulher do homem da polícia política?
– Não é nada disso. Acabei de deixar o Tibornas e ele diz que corre o zunzum de que os criminosos que puseram a bomba não são os que a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado prendeu.
– O Tibornas é um inventor de aldrabices.
– Eu sei. Mas disse-me que um taxista chamado Espeto de Pau lhe confessou que conhecia quem está por detrás daquilo.
Simão olhou-o com atenção.
– Achas que ele não estava a mentir?
Arengas encolheu os ombros.
– Nunca se sabe quando mente. Embora o nome seja estranho, na verdade, o motorista é cliente, costuma beber uns copos e terá grandes franquezas com o Tibornas. Resolvi contar-te porque sei que continuas a acompanhar essa história.
– Por mera curiosidade. – Declarou Simão, querendo evitar conversas sobre o crime.
Era hábil em mudar de conversa e atacou Arengas entredentes.
– Já resolveste o teu problema de coração?
– Mais ou menos. Acho que vou pedir transferência para o Porto. A irmã dela vive lá.
– Quer dizer que a tua Albertina vai fugir para o Porto e tu foges com ela.
– Não será bem assim. Ela irá para junto da irmã. Casas separadas para o corno não lhe fazer mal.
– Ganha juízo, Arengas.
– Juízo já tenho, o que me falta é dinheiro. E paz! Vou à Secretaria.
Afastaram-se. Simão dirigiu-se à Brigada. Pereira dos Santos encontrava-se a ler processos e interpelou-o.
– Está sozinho?
O Chefe esfregou os olhos cansados e empurrou o inquérito que tinha à sua frente.
– O pessoal anda na rua. O Eurico e o Frederico procuram o Espirra Canivetes, um ladrão ordinário que já assaltou dez residências, e o Arengas foi fazer notificações. – Tornou a passar as mãos pelo rosto e confessou: – Gastei o dia todo a ler processos e estou a ficar com dor de cabeça. Acho que preciso de óculos.
Simão aproveitou a pausa para lhe perguntar:
– O senhor conhece o Diretor-Geral da PVDE?
– O Agostinho Lourenço? Conheço. Cruzei-me com ele uma ou duas vezes e cumprimentámo-nos. Porque é que perguntas isso?
– Oiço falar tanto nele e não sei quem é.
Pereira dos Santos sorriu, embora o semblante fosse grave.
– Um homem poderoso e misterioso. Muito inteligente. – Fez uma breve pausa como se procurasse as palavras certas e continuou: – Tem a sua carreira ligada aos serviços de informações, desde o tempo de Sidónio Pais. Até chegar à PVDE, ainda comandou a esquadra do Matadouro e organizou a primeira unidade de trânsito, pois, cada vez mais se multiplicam os automóveis em Lisboa. É um tipo culto, com ligações internacionais muito importantes. Os Serviços Secretos ingleses têm grande consideração por ele e diz-se que mantém uma relação estreita com o General Franco, sobretudo desde que começou a guerra civil. Serve-o com a mesma lealdade que serve Salazar, pois acha que a vitória dos nacionalistas, em Espanha, será o melhor tampão para que o comunismo não entre em Portugal.
– Não sabia que era uma personalidade dessa envergadura. Julgava-o germanófilo. – Comentou Simão.
– Julgo que mantém relações com o General Heydrich e com Himmler, dois homens fortes na estratégia de Hitler. Ambos dirigem os serviços da polícia nazi, os SS e a Gestapo. Mas também é amigo pessoal de Francisco Nodi, o chefe da OVRA, a polícia política fascista italiana. Uma figura de peso! Eu, que percebo pouco de polícias políticas, estou convencido de que a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, que ele organizou, foi inspirada no MI6 inglês, mas introduziu-lhe os métodos da Gestapo e da OVRA.
Simão estava esmagado com as explicações do Chefe.
– É um verdadeiro personagem! Julgava que era mais um oficial do exército autoritário e burgesso.
Pereira dos Santos acendeu um cigarro e aproximou-se da janela, olhando as ruínas do Convento do Carmo.
– É um homem muito hábil e de uma dedicação canina a Salazar. Diria mesmo que é o número dois do Regime. Nem Carmona, nem os ministros, nem a tropa possuem a confiança que Agostinho Lourenço merece do Presidente do Conselho.
Correu o olhar pelo casario que escorria até ao Tejo. Lisboa, vista do seu gabinete, era uma cidade doce e bela, tão livre que se julgava impossível que vivesse atulhada de medo. Continuou a falar como se estivesse sozinho, a pensar em voz alta.
– Quando se fizer a história destes dias, não será possível compreender o Regime se não se tiver em conta dois homens: António Ferro e Agostinho Lourenço.
– O Diretor do Secretariado Nacional de Propaganda. Conheço bem o que vai escrevendo. Um homem culto. – observou Simão.
– É o verdadeiro arquiteto do salazarismo. E Agostinho Lourenço o engenheiro da mais sofisticada rede de medo que um Regime autoritário pode exigir. A PVDE é apenas a cabeça do polvo. Multiplicou tentáculos por todo o País. Informadores pagos, informadores forçados, informadores informais e, acima de tudo, criou uma ideia extraordinária.
– Qual?
– Convenceu toda a população de que sabe tudo, de que não se lhe escapa um gesto, uma palavra, uma ação contra o Estado Novo. Todos desconfiam de todos. Todos têm medo de falar porque, na fantasia construída, a conversa pode ser escutada por alguém que informa. É a grande proeza de Agostinho Lourenço. O medo deixou de ser um estado de espírito transitório, para se instalar entre as famílias, nas aldeias, nas vilas, nas cidades, em todo o lado, entre militares, deputados, ministros, juízes, empresas, operários, ninguém fala de assuntos políticos sem que antes não olhe em volta, e baixe o tom de voz. É extraordinário!
– O senhor admira-o. – Comentou Simão.
Pereira dos Santos ficou embaraçado.
– Reconheço que tem feito um trabalho genial, embora nem todos os génios tenham servido causas virtuosas. Quem inventou o gás mostarda, que destruiu a vida de milhões durante a Grande Guerra, seria muito inteligente, mas não foi boa pessoa.
– Está a dizer-me que não é salazarista.
– Não. Estou a dizer-te que nem todos os fins exigem os meios que muitas vezes são utilizados para os conseguir.
Simão respirou fundo. O discurso de Pereira dos Santos fora deveras interessante. Nunca olhara o Estado Novo sob aquela perspetiva. Na verdade, o medo respirava-se. No final de uma conversa mais acintosa sobre a política de Salazar, poderia estar o início do caminho que conduzia à prisão, ou ao degredo para campos de concentração espalhados pelas colónias. Talvez não fosse assim tão simples, no entanto, essa convicção morava em todas as conversas que se cruzavam pelo País.
Decidiu calar-se. Não partilhou as suas reforçadas dúvidas sobre o atentado e foi tratar de ofícios que tinha em atraso.
* * *
Carolino estava num torpor de fadiga, cabisbaixo, sentado na sala em frente ao grande retrato de Salazar, com um enorme quebranto que lhe roubava as forças. Tinha a certeza de que, no estado de depressão em que se encontrava, se a sua fornecedora lhe ligasse, informando-o de que tinha uma virgem de onze anos à sua espera, seria a primeira vez que recusaria tal iguaria. Não procurava desflorá-las. Julgava mesmo que nunca ousara tal ação porque não lhe causava prazer. Era a pureza do corpo! Afagar os seios que se anunciavam, os corpos imaculados, beijar-lhes cada palmo de pele em devoção lúbrica, desvanecido pelo calor da inocência. Sentia todas as estrelas do universo a brilharem dentro de si, quando lhes encaminhava as mãozinhas ingénuas pela braguilha, ensinando-as com doçura a agarrá-lo, para a frente e para trás, para a frente e para trás, até que os espasmos orgásticos o atiravam para um estado de tal deslumbramento e aquietação que se sentia no limiar entre a vida e a morte. Adorava crianças!
Porém, naquele dia de amargura, nem essa virtude que Deus lhe entregou libertaria aquele homem torturado, ensimesmado, para a alegria.
Albertina entrou na sala e, vendo-o em tal estado, inquiriu, curiosa:
– Estás doente? Hoje não vais trabalhar?
Afagou a cabeça e, cabisbaixo, respondeu:
– O dever chama-me, mas esta dor de cabeça entorpece-me.
– Queres que telefone ao médico?
– Não, não. Não é doença de corpo. É da alma.
Sem perceber a resposta, Albertina retorquiu:
– Da alma?
– Deus deu a Sua Excelência o dom que só atribui aos Santos Padres. É infalível. Tal exaltação divina obriga quem o serve a procurar a perfeição. Ninguém que queira honrar a Pátria pode deixar de ser um bom cristão, isento de pecados mortais, porque serve o Sagrado, que se revela no Senhor Professor. Ora, estou tremendamente assustado. Desconfio de que errámos enquanto seus servos. E logo num caso de vida ou de morte. Pecámos contra o único mandamento político que não nos era permitido falhar.
– Não percebo nada do que estás para aí a dizer. O que aconteceu?
– Uma vergonha. Uma humilhação muito pior do que o adultério, caso se confirmem as minhas suspeitas.
Albertina sobressaltou-se.
– Que conversa estúpida é essa, Carolino? O que estás a insinuar?
– Que a verdade nos engana. Quando Sua Excelência souber o que está a acontecer, vai ter um grande desgosto.
– Saber do quê? Que adultério é esse de que falas? – Tornou a perguntar, assustada.
O coronel fez um gesto de desalento e sossegou-a.
– Não é nada contigo, minha querida. Foi apenas uma maneira de dizer. Aliás, se cometesses adultério, matava-te e ficava tudo resolvido. Lavaria a honra no teu sangue e tu descansarias em paz. Infelizmente, é muito pior do que isso. Muito pior!
Os ombros descaíram, quase dobrado sobre os joelhos, tal era o peso do desgosto. Pegou no terço e sussurrou:
– Preciso de rezar. De pedir ao Altíssimo que tenha sido o grupo do Alto do Pina.
Albertina já não o escutava. Encerrou-se no quarto, aterrada com as palavras do marido. Não tanto por garantir que a matava, em caso de adultério. O desprendimento tranquilo com que o disse pô-la em choque. Revelava a ausência de qualquer sentimento, a indiferença onde só a honra dele contava.
Mordeu o pranto e bebeu as lágrimas.
* * *
Agostinho Lourenço ficou de cabeça baixa, mãos cruzadas sobre a secretária, sem conseguir olhar para o subordinado, controlando a cólera. Catela balanceava o nervosismo, ora num pé, ora no outro, e titubeou:
– Não entendo como isto é possível. O grupo do Alto do Pina é consistente. São todos amigos, vivem no mesmo bairro, frequentam a mesma taberna, as confissões...
O Diretor-Geral interrompeu-o com evidente irritação.
– As confissões são aquelas que lhes metemos na boca. Valem aquilo que nós quisermos que valham. Ao menos tens consciência do que me acabas de contar? Quem é esta gente que aparece aqui a reivindicar o atentado, sem que ninguém os molestasse?
– São motoristas de carros de praça. Um deles confessou que comprou a dinamite nas Minas de São Domingos.
– Os nossos peritos militares dizem que o explosivo foi melanite.
Catela hesitou, mas não conseguiu suster a ironia.
– Os nossos peritos também dizem aquilo que lhes metemos na boca. Dava jeito ser melanite porque estabelecia uma relação com os soviéticos.
A cólera fez o Diretor-Geral levantar-se da secretária, dando passadas largas pelo gabinete, enquanto barafustava:
– O País aplaude-nos por termos prendido os terroristas, os jornais não se cansam de nos elogiar, o Cardeal-Patriarca louvou publicamente a nossa vitória contra os inimigos da Pátria, chegam telegramas de parabéns do estrangeiro, e agora acontece uma coisa inverosímil. Não é possível. Não é possível!
– É o que eu digo. Só pode ser um mal-entendido.
– Cale-se!
Encostou-se à janela, o seu poiso favorito, fumando nervosamente. Desde o início que percebera que o jogo fora demasiado forçado. A urgência em encontrar culpados era superior às contingências que obrigam a demora. O legionário abriu uma porta e por ela entraram, a caminho do Alto do Pina, sem perguntarem para além da informação descarnada que lhes fora entregue.
Em circunstâncias normais, não teria permitido o avanço sem uma séria crítica à delação. Porém, era a primeira vez que alguém atentava de maneira tão determinada contra a vida do Presidente do Conselho. Prender-se-iam os suspeitos imediatos, pensou. Passado o tempo da euforia, far-se-ia com paciência o trabalho necessário até encontrar outra possibilidade de solucionar o caso. O remorso daqueles protagonistas, tão rápido, em cima da festa, obrigou-o decidir contra os planos que há muito congeminara.
Voltou-se para Catela, deu dois passos na sua direção e enfrentou-o com firmeza, sublinhando as palavras:
– Oiça o que lhe digo, Senhor Capitão. Quem cometeu o atentado contra o Doutor Salazar foi o grupo do Alto do Pina. O bando de terroristas que está preso. Concorda comigo, não é verdade? – Perguntou em tom de desafio.
– Sim, claro. Não tenho qualquer dúvida. – Respondeu, solícito, o subalterno.
– Portanto, qualquer aventureiro que surja a confessar que esteve envolvido no atentado não é mais do que isso. Um aventureiro que quer provocar o Estado Novo. Está a perceber aonde quero chegar?
– Com certeza, Senhor Diretor-Geral.
– Está a perceber mesmo? – Repetiu com firmeza.
– Claro. – Catela começava a ficar incomodado com a insistência.
– Muito bem. Sendo assim, temos de concluir que estes criminosos voluntários fazem parte de uma manobra dos comunistas para humilhar a nossa Polícia. Não acha?
– Não tenho dúvidas. Ou manobra dos comunistas ou dos tipos da Frente Popular.
– Talvez, talvez. Estamos entendidos, não é verdade?
– Claramente, Senhor Diretor-Geral!
– Então, vá ter com os seus homens, imponha a verdade em que ambos acreditamos e vasculhem a vida dos dois palermas que se vieram entregar. – Mando-os embora? – Perguntou a medo.
– Ficam presos. Nesta casa é fácil de entrar e muito difícil de sair. Vamos ao trabalho!
Voltou as costas ao Capitão Catela, que, tendo a conversa chegado ao fim, se retirou, cabisbaixo.
No corredor, à sua espera, estava o Chefe Mateus Júnior, encostado à parede. Visivelmente abatido, aguardava ansiosamente notícias da reunião que acabara de decorrer no gabinete do chefe máximo da PVDE.
– O que vamos fazer, Senhor Diretor? – Perguntou mal se aproximou.
– Vem comigo.
Pegou-lhe no braço e quase o arrastou para o seu escritório. Fechou a porta à chave e mandou sentar o Chefe de Brigada.
– A coisa é simples, mas vai dar trabalho.
– Faço aquilo que for necessário, meu Capitão.
– Os verdadeiros autores do atentado estão presos. Fomos nós que os prendemos e não há nada que mude esta posição. O grupo do Alto do Pina atentou contra Sua Excelência o Senhor Presidente do Conselho. Está claro?
– Sempre esteve, Senhor Diretor. Todos confessaram. Mais lambada, menos lambada, todos se abriram.
– Sendo assim, quem chegar aqui reclamando que foi autor do atentado não passa de um provocador que deve ser imediatamente detido por crime contra a segurança do Estado.
– Assim se fará. Mais alguma ordem, Senhor Diretor?
O Capitão Catela calou-se. Não seria suficiente tomar aquelas medidas sem outras cautelas. O caso impunha que as explicações estivessem blindadas contra qualquer intriga ou, o que era de somenos importância, contra outra verdade.
– Fala com os outros chefes de Brigada e transmite-lhes estas ordens. Tu vais ter uma missão especial, importantíssima para manter a nossa versão dos acontecimentos.
– Estou às suas ordens.
– O pessoal do Alto do Pina vai começar a ganir quando souber que vieram entregar-se bandidos que dizem ter cometido o atentado. Por sua vez, estes agentes provocadores vão querer lançar dúvidas, reclamando a autoria do crime.
– Estou a ver.
Catela tomou balanço e deu conta da missão de Mateus Júnior.
– Tens de convencer os primeiros de que são eles os verdadeiros criminosos e tens de convencer aqueles que se entregaram de que estão inocentes. Não passam de provocadores, mas que sabemos de fonte certa que não houve qualquer taxista envolvido no ataque a Sua Excelência. Talvez estejam ligados a outros atentados à bomba ainda por resolver.
– As bombas que explodiram nos ministérios, por exemplo.
– Não é má ideia.
Respirou fundo e encarou o subordinado.
– Achas que te consegues desenvencilhar-te desta tarefa?
Mateus Júnior sorriu, bem-disposto.
– Pode Vossa Excelência estar descansado. Vão aprender a lição. Ou a bem ou a mal. O meu pessoal é especialista em meter esta corja na ordem.
– Mateus, sem mortos. – Avisou Catela.
– Farei os possíveis, Senhor Diretor.
* * *
Frederico desligou o telefone e o rosto distendeu-se num sorriso. A seguir, soltou uma gargalhada que chamou a atenção de Eurico e Simão, que estavam a trabalhar à sua frente.
– Pode saber-se o que te deixou tão bem-disposto? – Perguntou Eurico.
– Uma grande bronca. Como diria o Tibornas, é do cacete! – Respondeu, derretendo-se em gargalhadas convulsivas, que fizeram levantar os dois amigos das secretárias.
– Que notícia recebeste para te estares a rebolar de gozo? – Forçou novamente Eurico, surpreendido com as gargalhas efusivas do colega.
– Vocês não vão acreditar. Foi um amigo, que fez a tropa comigo. Agora está na PVDE.
Interrompeu a conversa com novo ataque de riso que pôs os outros também a rir. Parecia que uma alucinação se apoderara dos três agentes. Frederico caiu na cadeira, com dores nos queixos, de tanto gargalhar. Eurico chorava, lançando gritinhos soluçantes. Simão esforçava-se por cerrar os dentes para controlar o acesso de riso.
Foi nesse momento que entrou o Chefe Pereira dos Santos, que olhou, surpreso, para os funcionários.
– O que se passou? Ganharam a lotaria?
A risota amainou, porém recomeçou com mais vigor quando Eurico o informou:
– O Frederico recebeu um telefonema e desatou às gargalhadas. Nós começámos a rir por vê-lo naquele estado. Nem eu nem o Simão sabemos porque estamos nesta maluquice.
Pereira dos Santos tornou a observá-los. Estava visivelmente bem-disposto, embora não soubesse o motivo do riso contagiante. Esperou algum tempo até que os ânimos acalmaram e Frederico falou.
– Vai um banzé dos diabos na PVDE. Andam todos aos gritos contra todos. Enganaram-se!
Nova gargalhada engasgou Frederico.
Simão ficou em alerta.
– Enganaram-se como?
– Segundo o meu camarada de armas, os verdadeiros autores do atentado foram entregar-se e não sabem o que fazer aos que estavam presos, do Alto do Pina, nem aos que agora se declaram culpados.
– Será possível? – Questionou o Chefe, atónito.
– Nunca me fugiu a música. Nunca! – Comentou Simão, que ficou subitamente tenso ao ouvir a notícia.
– Há muito tempo que vai por lá uma guerra interna por causa disto. O Capitão Agostinho Lourenço não distribuiu a investigação ao Capitão Maia Mendes, que dirige a Secção de Defesa Política e Social. Este amuou quando soube que era o Capitão Catela que ficaria responsável. Agora, uns riem e outros gritam, azedos.
– Fizeram uma grande festa durante semanas. Agora têm muitas canas de foguete para apanhar. – Comentou Eurico, bem-disposto.
Pereira dos Santos pegou no chapéu.
– Não saiam enquanto eu não regressar. Não demoro
E saiu de cenho carregado.
Os Agentes entreolharam-se. Era claro que a informação preocupara o Chefe de Brigada.
– Será que ficou chateado connosco por estarmos a rir? – Questionou Eurico.
Frederico encolheu os ombros.
– Ao menos uma vez na vida, a PVDE deu-nos um motivo para soltarmos umas gargalhadas.
Arengas chegou nesse instante e notou a excitação que havia na sala.
– Passa-se alguma coisa? – Perguntou, atento às expressões dos colegas.
Foi Eurico quem lhe contou que a confusão que corria pela António Maria Cardoso provocara o ataque de riso em que o Chefe os apanhara. Arengas coçou o queixo, enquanto digeria as notícias, e por fim exclamou:
– É por isso que o corno anda de terço nas mãos, rezando e gemendo pelos cantos da casa.
– O quê? – Perguntou Frederico, sem perceber.
– Nada, nada. Estava apenas a pensar em voz alta.
Simão baixou os olhos, como se quisesse evitar um comentário mais sarcástico.
– Nós somos um bocado mauzinhos. Quem se alegra com as derrotas dos outros revela que é fraco. – Reconheceu Frederico.
Eurico discordou.
– São uns arrogantes de merda. Vêm aqui buscar informação que resulta do nosso trabalho e consideram-nos seus escravos. Julgam-se donos de tudo e de todos. É bom que engulam um pedaço da soberba que ostentam.
Nesse momento, entrou Pereira dos Santos.
– Ainda bem que estão todos aqui. – Começou por dizer e acrescentou gravemente: – O telefonema que o Frederico recebeu não existiu. A notícia que vos pôs a rir às gargalhadas morre aqui dentro. Nenhum de vocês torna a falar disto. Nenhum de vocês sabe o que se está a passar na PVDE. Não há história para contar a ninguém. Nem segredinhos com namoradas e companheiras correlativas. Esta hora que passou não existiu nas vossas vidas. Estamos entendidos?
Olharam-no, incrédulos. Não percebiam a severidade das palavras, nem a exigência de segredo que o Chefe lhes impunha.
– Podemos saber a razão de ordem tão estranha? – Interpelou-o Simão.
– Porque a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado não comete erros. Não se engana. Há sempre um inimigo externo que é culpado por qualquer falhanço e basta que escutem uma palavra para que não tenham dúvidas sobre quem lançou esta confusão no processo do atentado. O temporal que existe para as bandas do Chiado vai descarregar em cima do primeiro que ousar pôr a cabeça de fora, e nós, e a nossa Polícia, somos as potenciais vítimas mais à mão.
– Ó Chefe, isso não é medo a mais? A Censura instalou-se no Torel? – Reagiu Arengas, inconformado com as ordens.
– Não é censura. É prudência. Não julguem que somos melhores do que eles. Porque aqui, dentro da PIC, abundam informadores que lhes contam aquilo que fazemos e o que não fazemos, aquilo que dizemos e não dizemos, e eu quero o vosso bem. Quando sairmos àquela porta, todos esqueceremos o que se passou.
Frederico hesitou antes de questionar o Chefe. A severidade com que expunha as precauções que deveriam ter aumentou-lhe a curiosidade. Por fim, aventurou-se:
– Todo esse sigilo significa que o meu companheiro de armas me contou a verdade. Eles enganaram-se no que respeita à autoria do atentado?
– Enganaram. – Respondeu secamente o Chefe, e voltou a frisar: – Se alguém vos perguntar se sabem alguma coisa, fazem-se de anjinhos. Ninguém sabe, nunca ouviu falar. Mesmo que sejam colegas nossos. Podem ser informadores. Silêncio absoluto.
Eurico, perante a rispidez da ordem, levantou o dedo como se estivesse na escola primária.
– Posso falar?
– Qual é a tua dúvida?
– Não percebo como podemos ser maltratados por esses tipos da polícia política, pois, no dia em que tudo aconteceu, nós fomos com o Chefe ao local do crime e até quisemos ajudar. O Diretor deles mandou-nos dar uma curva.
– Mais uma razão para ficarem desconfiados, se descobrirem que a gente sabe. Nós percebemos desde a primeira hora que não podia ser o bando de bêbados do Alto do Pina.
Simão não conseguiu conter o sarcasmo.
– Não haja dúvidas de que são os padres que têm razão.
– Os padres? O que tem a padralhada a ver com isto? – Observou Arengas sem perceber onde o amigo queria chegar.
– Justiça é um dom de Deus. A justiça dos homens é para fazer de conta.
– Enganas-te. Deus ainda pode ser misericordioso. A justiça que temos é a de Agostinho Lourenço. Implacável e sem coração. Até Deus se submete à sua vontade.
Os Agentes ficaram em silêncio. Por maior que fosse a revolta, o Chefe tinha razão. A omnipotência da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado fora construída, ao longo dos últimos quatro anos, como um poder absoluto que legitimava o do Presidente do Conselho. Interpelá-lo entrava no território do pecado, numa dimensão de ofensa ao Sagrado, do qual o impuro só se libertava depois da penitência prisional. Ou, nos casos mais radicais, com a oferta da própria vida.
Pereira dos Santos guardou as suas coisas, preparando-se para sair, e à laia de despedida repetiu a ordem:
– Bico calado!
* * *
Amorim fechou a porta silenciosamente e, em voz baixa, interpelou Rosa Casaco:
– Então? Quais são as novidades?
– A esposa do senhor coronel continua a encontrar-se com o mesmo homem.
– Quem será o tipo? Alguém da política? – Perguntou, intrigado.
– Se lhe passa informações políticas, não sei. A única certeza que tenho é que todas as semanas passam duas tardes juntos, fechados numa pensão. Pode ser política ou não, mas cornos são de certeza absoluta. – Respondeu o agente.
O superior ficou em silêncio. A função tinha-o habituado à desconfiança e alimentava o desejo secreto de deitar mãos a uma adúltera que violava os princípios da moral do Estado Novo. Não era digna dos salões onde confraternizavam as esposas fiéis, pináculos de um dos vértices da Revolução Nacional – a Família. O mais pequeno núcleo onde se começa a construir a grandeza de um País, exercitando os homens para o comando, auxiliados por esposas que os serviam fiel e docilmente.
Se fosse hábil, pensou, poderia matar dois coelhos de uma só cajadada, fazendo desaparecer o idiota do marido da nobre instituição em que serviam. Nem sabia como ali fora parar a aventesma do Carolino, promovido por cunhas, presunçoso, sempre a considerar-se o primeiro apoiante de Salazar, quando, na verdade, ao chegar a hora de dar o corpo às balas pelo insigne estadista ficava-se sempre nas encolhas, cofiando o bigode e alisando o cabelo. Não o suportava. Qualquer apoiante sério do Regime manifestava-se pela sobriedade da vestimenta, pela parcimónia nas palavras, na discrição com que caminhava pela vida. Não era o caso. O coronel era pompa e alarde. Não era um crente, apenas um beato com devoção excessiva, que escondia a falsidade da proclamada adoração à Causa. Seria um triunfo descobrir que a sua tão exaltada esposa passava informações a um aventureiro do reviralho.
– Vais continuar a segui-la e da próxima vez, quando se deixarem, procura vigiar o homem para percebermos quem é o tipo. – Disse Amorim, dando por terminada a conversa.
O Agente saiu. De súbito, o Capitão lembrou-se de que tinha marcado encontro com a Ludovina, uma corista apetitosa, do Parque Mayer, por quem se perdera de amores há umas semanas. Chamou o contínuo e disse-lhe:
– Vais a minha casa avisar a minha esposa que esta noite não vou jantar. Há, por aqui, ainda muito trabalho para fazer.
* * *
Mateus Júnior achou estranho o convite de Baltar para tomarem um copo fora do bar da Sede. Que se encontrariam na taberna do Vinagre, na Rua das Flores.
Foi ao encontro do amigo, intrigado com o teor da conversa que merecia tanta discrição. Não era coisa boa, de certeza, e a expressão de Baltar, que já estava sentado, confirmou a suposição.
– O que foi? – Quis saber mal se sentou.
– Temos merda. E da grossa. – Resmungou Baltar.
– O Arrinca não se aguentou e abriu-se. Contou o que sabia. Os homens de confiança do Maia Mendes prenderam mais um taxista. Um tal Granja.
– Quem é esse Granja?
– Dizem ser outro dos motoristas que estiveram envolvidos no atentado e, mais importante: terá sido ele quem pôs a bomba no esgoto. Já viste o sarilho?
Mateus Júnior ficou aturdido, sem conseguir perceber como emergia uma história tão diferente daquela que eles tinham construído a partir do bando do Alto do Pina.
– E agora?
– A coisa está a piorar. – Gemeu Baltar.
– O Arrinca falou de um anarquista, um tal Emídio Santana, que fugiu para Inglaterra.
– Sei quem é. Já o prendi. – Disse Mateus Júnior com medo do que ia ouvir.
– A Polícia inglesa prendeu-o quando chegou a Southampton e recambiou-o para Lisboa. Resumindo: vamos ter quatro presos que podem estar envolvidos no crime e cinco que já foram detidos e que nós considerámos como os verdadeiros autores. – Resumiu Baltar para acrescentar: – Soube destas notícias ontem à noite. Quis ouvir da voz do próprio Arrinca. Foi impossível pregar olho durante toda a noite. Puta de vida!
O interlocutor não conseguiu dissimular a irritação.
– Por que raio de motivo o Maia Mendes põe o Antero da Luz e o Samuel Maneta a mexerem neste caso? O processo é da minha Brigada.
– Este é outro caso. Tu tens o atentado. Estes tipos são provocadores que dizem ter organizado a coisa. Pelo menos, foi essa a explicação que me deu o Antero da Luz.
– Já me deste cabo do dia. – Desabafou Mateus Júnior, levantando-se para ir ao balcão buscar mais um bagaço. Bebeu-o de um trago e pediu outro que levou para a mesa. – O que é que tu achas disto?
– Não sei o que te diga, Mateus. Há uma guerra entre o Maia Mendes e o Catela. Já andavam de candeias às avessas e com este crime o conflito piorou. O Maia Mendes sentiu-se desautorizado porque o Chefe maior decidiu que seria o Secretário-Geral a conduzir a investigação. Uma confusão! Como se não bastasse o serviço normal, ainda temos de levar com esta zanga entre comadres dentro de casa.
Não eram de agora os conflitos internos na PVDE. Invejas, competição sem escrúpulos entre as brigadas, cada uma alardeando importância conforme a pessoa que prendia. Agostinho Lourenço promovia esta competitividade sórdida. Sabia que estimulava a sua tropa a exceder-se na dedicação ao trabalho. Aliás, o recrutamento de pessoal obedecia a um plano exigente. Acreditava que a força da organização residia em contar com poucos pensadores, gente que conseguisse ligar factos e organizar estratégias, e em construir um exército de soldados genuinamente crentes, na sua ignorância, nas ordens das chefias, capazes das maiores brutalidades sem qualquer sentimento de comiseração.
– O que havemos de fazer? – Perguntou Mateus Júnior.
– Não sei. Foi para responder a essa pergunta que quis falar contigo. De tanto desconfiarmos de todos e de tudo, já nem nos nossos conseguimos confiar. – Lamentou-se Baltar.
– Existem ordens vindas de cima para que nada daquilo que já foi feito seja alterado. Os homens do Alto do Pina são os culpados, todos os outros que se apresentarem consideramo-los agentes provocadores.
– Conheço as ordens. Mas começa a correr que estão dois bandos presos pelo mesmo motivo. Por mais que se guarde segredo, não é coisa que controlemos por muito tempo. Será que Salazar sabe o que se está a passar?
Mateus Júnior encolheu os ombros.
– Por mim não vai saber porra nenhuma. O Diretor-Geral é unha com carne com o Presidente. Deve ser a única pessoa em quem confia.
Mateus Júnior não conseguia esconder o nervosismo. De súbito, levantou-se.
– Vou ver esse tal Granja. Isto está a tornar-se num pesadelo.
Saiu, apressado, a caminho da António Maria Cardoso. A pesada angústia entorpecia-lhe o raciocínio. Na verdade, havia momentos em que estava farto de aturar bombistas, comunistas javardos, anarquistas doidos, reviralhistas ressabiados. Ninguém dessa corja de vadios compreendia que a ordem no País era bem mais importante do que os devaneios que confundiam com sonhos de liberdade. Como se não vivessem numa Pátria livre que se desejava ordeira, bem longe da tumultuosa democracia republicana. Já se tinham esquecido da barafunda que obrigou ao golpe militar. A escumalha criou o caos. Desde o assassínio do malogrado Sidónio Pais, esse sol que irradiou entre as ruínas da luta política, não passou um único dia sem conspirarem, sem prepararem golpes, greves, manifestações, promovendo motins e levantamentos, de tal forma que em sete anos existiram vinte e cinco governos republicanos. Alguns duraram quinze dias, outros apenas uma semana, a maioria dois ou três meses, e nenhum teve um ano de duração. Com o golpe de Gomes da Costa, que depois tentou ser arruaceiro, e com a mão de ferro de Sua Excelência encontrara-se novamente o rumo da paz e do progresso. Era este o caminho e não havia outro. Embora percebesse pouco de política, pois o seu dever era prender insurretos, Mateus Júnior sabia que contribuía para a felicidade geral do povo.
Na cabeça do Chefe de Brigada, o Mundo era simples. Havia o Bem de um lado – liderado pelo Senhor Professor Salazar e não havia dúvidas quanto a isso porque a Igreja reforçava, entusiasmada, o apoio ao ilustre estadista – e do outro lado estava o Mal que os ameaçava, como era exemplo esta enorme confusão em torno do atentado de julho passado na Avenida Barbosa du Bocage.
Quando Mateus Júnior chegou à sala onde Samuel interrogava Granja, ficou em silêncio. O preso espirrava sangue do nariz e da boca e o olho esquerdo desaparecera por detrás do enorme hematoma arroxeado. O agente, de cinto na mão, transpirava, ofegante. Não admirava. Há três dias que repetia a mesma pergunta ao motorista e só ouvia guinchos e gritos.
– Falas ou não falas, filho da puta? – Perguntou mais uma vez, enquanto recuperava o fôlego.
No chão, desfigurado, enrolado sobre si próprio, abraçando as dores, estendeu o braço num queixume:
– Não precisa de bater mais. Fui eu e o Raul Pimenta que pusemos a bomba no esgoto. Fomos os dois. Mais ninguém.
– Quem é esse Raul Pimenta?
– É serralheiro e, às vezes, dá um jeito no meu automóvel.
Mateus Júnior percebeu que a contenda estava a chegar ao fim e amenizou o conflito que opunha o Agente ao preso.
– Levanta-te. Queres água?
Ainda sentado no chão, Granja bebeu sofregamente. Samuel ofereceu-lhe uma cadeira.
– Senta-te aqui. Esta conversa não precisava de ter sido à porrada. Tu escolhes a música para o baile ou o cinto entra novamente em ação.
Era baixo e magro. Embora os olhos estivessem tumefactos da tareia que acabara de levar, eram negros e vivos. Tornou a beber água sem pedir licença para se servir e acomodou-se de maneira a que as dores fossem menos terríveis.
– Pertences ao Partido Comunista ou à Frente Popular? – Perguntou Mateus Júnior.
– Não pertenço a nenhuma porcaria política. Nem sou a favor, nem contra essas coisas.
– Acabaste de confessar que puseste a bomba na Barbosa du Bocage e agora dizes que não pertences a nada?! – Atirou, desconfiado, o Chefe de Brigada.
– Sou contra a miséria, não chega? É preciso ser anarquista, comunista, legionário, para ser contra a fome? – Respondeu, zangado.
– Sendo assim, os teus amigos que vieram entregar-se é que são comunistas. – Avançou Samuel.
– Os meus amigos são uns palermas. Vieram entregar-se porque vocês prenderam as pessoas erradas. Ficaram mal com as suas consciências por estarem presos inocentes. Uns parvalhões!
– Parvalhões, porquê? O atentado contra o Professor Salazar não te pesa na consciência? – Perguntou Mateus Júnior.
– Na minha consciência, pesa a miséria que dá cabo da minha vida. Ver os meus filhos, que vivem com a mãe, a chorar de fome e eu não ter um vintém para lhes confortar a barriga. Todas as semanas a minha mulher tem de ir à Sopa do Sidónio porque o dinheiro não chega para alimentar aquelas almas. Se andasse, como eu ando, pelas ruas, vendo tanta pobreza, tanta gente pedindo esmola pela graça de Deus, tanta gente doente dos pulmões, descobria que é preciso uma consciência muito grande, bem maior do que nós, para viver em tão grande sofrimento. E nem se pode refilar! Basta uma palavra fora do lugar e aparecem vocês para nos prender.
Não conseguia esconder a revolta, que se manifestava na forma insolente como se dirigia aos seus torturadores. Era teso, reconheceu Samuel. Daqueles tipos que, se o deixassem à solta, reagiria como uma fera a defender as crias.
– Quer dizer que o remédio para todos esses males seria matar o Presidente do Conselho. Não percebes que essa pobreza toda, o racionamento, a aflição que vivemos, se deve aos teus amigos republicanos, que puseram em guerra civil os nossos vizinhos espanhóis, que a República, de que têm tantas saudades, destruiu este pobre País, que tudo aquilo que agora nos é pedido em sacrifício vai resultar em nosso benefício? – Contestou Mateus Júnior.
– Não sei nada disso. A única coisa que sei, neste momento, é que levei uma tareia como nunca alguma vez imaginei que pudesse levar. Dizem-se vocês Agentes da autoridade... – Respondeu com desprezo.
– Onde pára esse tal Raul Pimenta?
Encolheu os ombros.
– Sei lá. Anda por aí.
Samuel não conseguiu aguentar tanto desprezo e descarregou o cinto sobre Granja. Aquele tempo de conversa chegara para recuperar o fôlego, e sentia-se em condições de cumprir o seu dever profissional.
* * *
– Uma rusga às putas? Esta noite? – Protestou Eurico.
– Todas as noites são boas para educarmos o putedo nos valores morais e dos bons costumes. – Comentou, jocoso, o Frederico.
Arengas estava contrariado.
– Porque não deixamos as mulheres em paz? Só falta levarmos um padre atrás para as convertermos. Ainda por cima, é injusto. Se estiverem matriculadas, são putas boas. Se não estiverem, aí sim, são putas más, produtos do Diabo. Que moral filha da mãe!
Frederico atirou com ironia.
– Somos zeladores da saúde pública. Para longe tuberculosas, sifilíticas e com gonorreia.
– ‘Não lamentes, ó Nise, o teu estado/ Puta tem sido muita gente boa/ Putissimas fidalgas tem Lisboa/ Milhões de vezes putas têm reinado’ – Citou Simão.
– O que é isso? – Quis saber Eurico, franzindo a testa.
– Bocage!
– Ah, bom, se é Bocage, a rusga está certa. Onde é que iremos hoje? Às fidalgas? – Perguntou Arengas.
– Eu vou comer qualquer coisa ao Tibornas e fazer tempo para a diligência. – Informou Simão.
– Vou contigo. – Disse Eurico.
Frederico vestiu o casaco e deu dois passos na direção da porta.
– Eu também.
Simão virou-se para Arengas.
– Tu não vens?
– Tenho umas coisas para fazer. Vou lá ter convosco. – Respondeu com visível embaraço.
Simão fuzilou-o com o olhar.
– Ai, Arengas, Arengas!
Bastaram os colegas voltarem costas e meteu-se ao caminho. Ainda poderia ver Albertina quando saísse da Igreja de São Roque. A coisa corria bem. A conversa com o Chefe Pereira dos Santos sobre a sua transferência para o Porto dava-lhe esperança. Ali, longe dos olhares coscuvilheiros do Chiado e do Bairro Alto, onde as intrigas produziam férteis colheitas, poderia encontrar-se com ela sem a preocupação do jogo de escondidas a que, agora, estavam sujeitos. Libertá-la do medo, dar asas ao amor que celebravam nos olhares discretos e nos abraços clandestinos, poderia estar ao alcance da mão, acreditava ele.
Saltou do elétrico no lado oposto à igreja e olhou o relógio. Faltava pouco para a ver sair. Dois mendigos cruzavam o largo, pedindo esmola pelas alminhas. Também ele era mendigo. Ali estava para receber um sorriso da sua amada. Deu cinco vinténs a cada um deles e foi então que reparou no homem, ainda jovem, que vigiava o portal de São Roque.
Já escurecera e, cauteloso, Arengas foi até à esquina da Rua da Trindade, para melhor ver sem ser visto. O outro ainda era novo. Talvez esperasse uma apaixonada, tal como ele fazia. Porém, foi a roupa que lhe chamou a atenção. A gabardina castanha, de gola levantada, e o chapéu sobre os olhos induziram Arengas a suspeitar de que se tratava de um Agente da polícia política. O que estaria a fazer? O coração palpitou, acelerado. Vigiaria Albertina? Procurou recuperar o sangue-frio. Levantou a gola do casaco e deixou descair o chapéu para a testa. O outro olhava, agora, para o relógio. Não tinha dúvidas de que esperava alguém. Num impulso procurou o maço de cigarros para aliviar a ansiedade. Porém, desistiu de fumar para não chamar a atenção do homem da gabardina.
Começaram a surgir as primeiras pessoas que tinham estado reunidas em oração. Arengas tentava descortinar, entre elas, Albertina. A cada segundo que passava o nervosismo crescia. O homem também vigiava a saída e não manifestava qualquer atenção sobre aqueles que, agora, se espalhavam pelo largo ou caminhavam para as ruas vizinhas.
De súbito, surgiu Albertina, ainda com o véu. Parou no átrio para o dobrar e meter na mala e Arengas não teve dúvidas. Era ela que merecia atenção do vigilante, que se virou discretamente, acendendo um cigarro. Antes de descer as escadas, viu-a a olhar em volta. Possivelmente na esperança de o encontrar e, de seguida, afastou-se. O homem, passados instantes, foi atrás dela. Agora era claro que a vigiava. Confirmou essa evidência quando Albertina desceu a Rua da Misericórdia e, de repente, parou para ver a montra de uma loja. O perseguidor estacou. Albertina recomeçou a andar e ele não a largou, caminhando a uma distância confortável.
Arengas crescera nas ruas de Lisboa. Era filho da vadiagem, de jogos de futebol com bola de trapos até que o Sol desaparecia no horizonte, ladrão de laranjas nas quintas que cercavam a cidade, especialista em assaltos a galinheiros e às no jogo de pião. A Madragoa era o seu fortim. Não havia semana que ele e os rapazes da sua rua não decidissem ir à luta com os bandos do Bairro Alto ou da Mouraria. Apenas para medir forças.
A avó era a única mulher por quem guardava um carinho infinito. A sua avó Luísa tornara-se no abrigo e no medo pelas suas façanhas.
– Filho, vê lá onde te metes.
Arengas respondia com carinho.
– Avó, esteja descansada. Não faço nada de mal.
– Não vais à missa, o Mestre disse-me que faltas à escola. – Queixava-se ela, preocupada.
– Eu irei, avó. Eu irei.
– Se os teus pais fossem vivos, teriam um grande desgosto por só gostares de andar na rua.
Era o momento do remorso quando ela invocava os pais, o grande vazio na alma de Arengas, que o procurava preencher na euforia das aventuras pela cidade. Cresceu descalço, pés nus a palmilharem a vida.
Usou botas pela primeira vez quando foi à inspeção militar e a terceira classe conquistou-a no campo da batalha, quando ingressou no Regimento de Artilharia.
Agora, já polícia, no sangue fervilhava o mesmo frenesi com que furtava bananas no Mercado da Ribeira.
Os ensinamentos da vadiagem davam-lhe vantagem. Iria perseguir o perseguidor até perceber donde surgira aquela inquietação.
Viu Albertina entrar na Rua das Salgadeiras. O homem parou, acendendo outro cigarro, lobrigando a porta onde ela entrava. Puxou de um bloco, escreveu qualquer coisa e afastou-se sem se aperceber de que tinha Arengas à perna.
Dirigiu-se ao Chiado, tomou a António Maria Cardoso e entrou na sede da polícia política.
Não havia dúvidas. Albertina corria risco de vida.
* * *
O Mateus Júnior cumpria a obra evangelizadora que lhe fora ordenada pelo seu Diretor. Alfredo, o empreiteiro de aterros, que viera na levada do Alto do Pina, estava à sua frente, visivelmente abatido. Durante aquelas semanas de prisão, envelhecera alguns anos. O Chefe de Brigada ofereceu-lhe um cigarro e dirigiu-lhe a palavra com afeto.
– Amigo Alfredo, vamos lá falar como dois adultos. Você pode não acreditar, mas sou seu amigo. Sou homem para o ajudar aqui dentro.
Acendeu o cigarro que o outro colocara nos lábios e continuou:
– Arranjo-lhe uma boa cela, cigarros, vinho e a comida que quiser. Comigo não lhe vai faltar nada. – Reforçou o tom amistoso quando rematou: – Até as visitas que quiser.
Alfredo não reagiu às ofertas, num marasmo absoluto.
– Não diz nada? – Perguntou Mateus, procurando perceber-lhe a expressão do rosto.
Por fim, Alfredo lamentou-se.
– Não percebo nada da minha vida. O Senhor Chefe já tem presos os que puseram a bomba debaixo do carro do Senhor Salazar. Toda a gente na prisão sabe que não fomos nós.
O Chefe reagiu com firmeza.
– Pelo contrário. A única certeza que tenho é que foi o senhor e os seus amigos que cometeram o atentado. Esses tipos que agora prendemos fizeram outros crimes. Puseram bombas em ministérios, raptaram uns motoristas de carros de praça, na Freixofeira, roubaram armas, ajudaram republicanos espanhóis que fugiam à guerra civil. São casos diferentes.
– Não percebo nada disto. – Desabafou Alfredo, escondendo o rosto entre as mãos.
Mateus Júnior tornou-se ainda mais doce. Aparentemente, não era o carrasco e a sua vítima que ali se encontravam frente a frente. Apenas dois amigos de longa data.
– Oiça, Alfredo, eu sou justo. Sei distinguir um homem bom de um que seja mau. Você é boa pessoa. Por isso, não pode ter dúvidas quanto ao seu crime e os dos seus amigos. Portanto, vamos a ver se nos entendemos. Ou está comigo ou está contra mim.
O empreiteiro de aterros suspirou sem dar sinal de resignação.
– O Senhor Chefe lá terá as suas razões, mas eu tenho as minhas. Na cela onde me encontro, está um tipo que diz ser anarquista que me pediu desculpa por eu estar preso, pois foi o grupo dele que pôs a bomba. Se eles próprios assumem o que fizeram, por que razão quer o Senhor Chefe que a gente seja culpados daquilo que não fizemos? – Repetiu com grande abatimento.
Mateus Júnior ficou irado.
– Os anarquistas são uns mentirosos. Espalham raiva e intrigas por onde passam. Inventam de tudo para que o País fique sem rei nem roque. Como é que se chama esse filho da puta que lhe pediu desculpa?
– Sei que se chama Santana.
– Esse merdas é dos maiores facínoras que temos detidos. Um terrorista sem escrúpulos que não vale a água que bebe. Se fosse eu que mandasse, há muito que tinha levado um tiro na cabeça. Mas o Professor Salazar é bondoso e tem pena destas almas danadas. Você quer ser um aldrabão igual a esse ordinário?
Alfredo tornou a suspirar fundo. A cabeça estalava com a confusão que lhe minava a razão e os gritos do Chefe ainda mais o desorientavam.
– Diga-me o Senhor Chefe o que quer que eu faça? Já passaram umas semanas desde que bebi o último copo de vinho, nem vejo a minha família. Diga-me o Senhor Chefe o que devo fazer.
Mateus Júnior levantou-se e deu uma palmada amigável no ombro do empreiteiro.
– Para saber como sou um homem sério, ainda hoje vai beber um copo de tinto e vou mandá-lo para a Penitenciária. Amanhã poderá receber a sua esposa e matar saudades.
– Agradeço-lhe, Senhor Chefe. Ao menos para mudar de roupa. – Respondeu sem grande entusiasmo.
– No entanto, hoje ainda vamos cumprir uma diligência para meter juízo na cabeça dos seus amigos e dos malandros que andam por aí a espalhar mentiras.
– Como? – Alfredo não percebia onde o outro queria chegar.
– Vamos juntá-los todos. É necessário deixar claro que foi o seu grupo que fez o atentado e não os outros meliantes.
Alfredo Elói olhou-o, espantado.
– Como é que o Senhor Chefe julga que eu posso fazer uma coisa dessas? Nenhum deles me dá a mão. O Toino não fala com ninguém, parece uma alma penada, e o Pinhal culpa o Horta pelo que aconteceu.
– Escolhi-o porque é o mais velho. Meta-lhes juízo na cabeça e vamos resolver isto de uma vez para sempre. Vou buscá-los.
Julgou que estava a enlouquecer. O polícia pedia-lhe que convencesse os seus amigos, tão inocentes quanto ele, de que eram os verdadeiros terroristas e, por outro lado, que os bombistas dissessem que não tinham nada a ver com o crime. Nunca, como naquele momento, sentiu tanta necessidade de beber um garrafão de vinho. De ganhar coragem para enfrentar o tipo que lhe acabava de fazer tal proposta. De lhe dizer que a injustiça tem limites, que a crueldade não é coisa de autoridade, mas de assassinos.
Limpou as mãos transpiradas nas velhas calças fedorentas. Alfredo estava aflito. Passara a vida metido nas obras, carregando entulho na camioneta que comprara em segunda mão, trabalhara do nascer até ao pôr do Sol, para pagar as prestações e salvar algum dinheiro para ter comida em casa. Nem no tempo da República, quando toda a gente tinha opinião, se interessou por política, privilegiando a vida nas obras e os bailaricos. Foi num deles que conheceu a Rita, com quem haveria de casar e lhe deu três filhos. Aliás, pensava ele, que cumpria a regra máxima do Estado Novo, o qual incitava o povo a ignorar a política, preocupando-se exclusivamente com o trabalho e a família. Cada vez tinha mais a certeza de que fora vítima de bruxaria, gente má, bem mais poderosa do que Salazar, que, por inveja, lhe enviaram o mau olhado que destruiu a sua vida.
Primeiro entrou o Chefe Baltar. Trazia consigo quatro homens tão maltratados e esfarrapados quanto Alfredo. Sentou-os no banco que estava à frente dele. Reconheceu o Santana e deduziu que se tratava da quadrilha que fizera o atentado.
Ainda não tivera tempo para os observar com atenção e já surgia o Chefe Mateus Júnior, acompanhado do Agente Gonçalves, escoltando os seus amigos. O único que mantinha a energia de outros tempos era o Pinhal. O Tóino Silva cambaleava, olhar esgazeado, dobrado sobre o seu próprio corpo. O Horta deixara de ser jovem. O rosto era desenhado por enormes olheiras roxas e a cara tumefacta da tortura tornava-o irreconhecível. O infeliz Jacinto, que em má hora se tornara seu ajudante, parecia um arbusto batido pelo vento, tal era a força do medo.
O Chefe Mateus explicou o motivo do concílio.
– Estamos aqui por uma razão muito simples.
Olhou para o colega Baltar, que o encorajou com um meneio da cabeça.
Voltou-se para o grupo do Alto do Pina.
– Temos provas de que foram vocês que fizeram o atentado contra o Senhor Professor Oliveira Salazar.
Dirigindo-se aos homens que estavam do outro lado da sala, sentenciou:
– E temos provas de que vocês estão a mentir. Embora sejam terroristas por outros crimes que cometeram contra o Estado Novo, desta vez vieram aqui apresentar-se, inventando histórias para confundir esta Polícia e o País.
Emídio Santana interrompeu o prelúdio.
– O senhor sabe que é falso aquilo que está a dizer.
– Não é nada falso. O Senhor Chefe tem razão. – Protestou o Granja.
O Chefe de Brigada berrou:
– Silêncio. Quem fala sou eu e a verdade é aquilo que eu entender! Foram aqueles merdas que atentaram contra a vida do Senhor Presidente.
– Não é verdade. – Protestou José Horta num gemido choroso.
O Agente Gonçalves resolveu a contenda com dois murros no rapaz.
– Não és tu quem sabe o que é verdade ou é mentira. Calas-te e ouves.
Mateus continuou:
– Vamos deixá-los sozinhos para que se ponham de acordo. Ou esta conversa chega a bom porto ou, então, vai haver um festival de chibata que todos vós desejarão nunca terem nascido.
Baltar interveio na conversa.
– Têm uma hora para resolver esta confusão.
Saíram os três, deixando a porta aberta. O ambiente de mal-estar não se desanuviou. Os homens olhavam-se entre si desconfiados, zangados, feras enjauladas contendo a raiva. Foi Alfredo quem rompeu as hostilidades, atirando-se ao Tóino, estendendo o dedo acusador.
– Por tua causa é que estamos presos. Foste tu quem armou esta confusão que deu cabo das nossas vidas.
Indiferente à revolta do velho amigo, Tóino lamuriou num encolher de ombros.
– Não tenho culpa de estar bêbado quando me foram buscar. Nem sabia que estava na Polícia quando escreveram o que dizem que eu disse.
– Palhaço!
– Palhaço és tu.
Santana interveio no conflito.
– Seja como for, vocês não podem aceitar esta arbitrariedade. Estão inocentes.
– E a porrada? A porrada que levámos não conta? Mijo sangue há uma semana. – Protestou Pinhal.
– Se fosse por mim, nunca estaria aqui. – Refilou Granja olhando com desprezo para o Arrinca.
– Eu não fiz nada. – Chorou o Horta.
– Então, porque é que te entregaste? Só um parvalhão se entrega a esta cambada de bandidos. Ainda há pouco tempo mataram dois homens bons. – Retorquiu Granja e, voltando-se para o Arrinca, ameaçou-o: – Quando te apanhar lá fora, vais saber como se trata um merdas com consciência. Não mereces a água que bebes, pá. Chibaste-me!
– Eu quero a minha mãe. – Desatou a chorar o Horta.
– Não chores, rapaz! Estes cabrões não podem ver lágrimas num homem que diz que é homem. – Resmungou outra vez o Granja, ainda mais crispado.
Alfredo acorreu em socorro de José Horta.
– Os cobardes é que fogem, meu caro senhor. Diga-me uma coisa. Por uma pessoa beber um copo a mais é comunista? Desde que aqui estou não me chamam outra coisa.
– Foram os vossos copos a mais que nos desgraçaram a todos. – Redarguiu Horta.
Emídio Santana meteu-se na discussão, contemporizador.
– Tenham calma. Não façam o jogo deles. Puseram-nos a discutir uns com os outros para que fiquemos doidos. Nós iremos dizer a verdade. Vocês não têm nada a ver com isto. Fomos nós e mais ninguém.
Alfredo riu, sarcástico.
– Antes de vocês chegarem, o Chefe que aqui estava veio convencer-me de que vocês são os inocentes e nós os culpados.
– Porque não querem perder a face. Estes tipos não têm escrúpulos, nem humildade para reconhecerem que erraram. Quando o próprio Estado se torna assassino, não podem esperar que a sua polícia política tenha escrúpulos. Estes homens que nos prenderam a todos não conhecem princípios de moral, nem valores humanistas. Não passam de esbirros.
– Não entendi aquilo que disse, senhor Santana. Não importa. Para mim, não passam de um bando de filhos da puta. – Rosnou Granja.
– Eu quero ver a minha mãe. – Horta chorava convulsivamente.
– Não se vendam por um prato de lentilhas. – Aconselhou Santana.
Pinhal perdeu a cabeça.
– Se vocês não tivessem feito a merda que fizeram, nenhum de nós estava aqui. Armam-se em políticos e desgraçam a vida de toda a gente.
– Quem nos desgraça a vida são Salazar e a Ditadura.
– Estamos presos por sua causa e dos seus amigos. Não passam de uns velhacos iguais a Salazar, está a ouvir?
– Sou anarquista, senhor Pinhal. Um combatente pela liberdade! – Protestou Emídio Santana.
– A liberdade de estarmos presos. – Pinhal esmorecia e Horta, transtornado, gritava:
– A minha mãe... eu quero a minha mãe...
A crescente gritaria enlouqueceu o Tóino. A carência de álcool devastara-lhe o juízo e desatou a voltear pela sala, puxando os cabelos. Acudiram Gonçalves e Mateus Júnior.
– Quero sair daqui! Ó da guarda. Vou sair, tenho de sair.
– És capaz de te calar? – Gritou Gonçalves.
Alucinado, encarou o Agente e, de súbito, correu para a porta em direção à janela existente no corredor e, perante a surpresa de todos, saltou.
Mateus Júnior gritou para Gonçalves:
– Fecha a porta.
O Agente cumpriu a ordem e puxou do revólver.
– O primeiro que se mexer ou gritar leva um tiro na carola.
Juntavam-se pessoas que passavam na rua por debaixo da janela do terceiro piso, espantadas com a queda aparatosa do homem.
O António Pires estava morto.
* * *
Arengas aproveitou o momento em que não estava ninguém na Brigada e foi ao telefone. Era uma ousadia ligar para casa de Albertina, contudo ela precisava de saber que estava a ser seguida pela polícia política.
– Tenho de ser rápido, antes que alguém chegue. Amanhã, vais às duas horas à igreja e diriges-te ao primeiro confessionário da direita. Estarei lá, que a essa hora não há padre. Depois, explico-te. Beijinhos.
Desligou o telefone no momento em que surgia um contínuo, o Silveira, a perguntar pelo Chefe Pereira dos Santos.
– Ele não está. Precisas de alguma coisa? – Quis saber o detetive.
– O Senhor Diretor-Geral pede-lhe que compareça no seu gabinete. Quer dar-lhe uma palavrinha.
Não era vulgar o Diretor da PIC pedir reuniões com pessoal subalterno. Alguma coisa de importante se estaria a passar para aquela chamada e Arengas saiu apressado à procura do Chefe. Encontrou-o aos portões do Torel, em conversa com o Carapeto, que trabalhava no Arquivo.
– Chefe, desculpe meter o bedelho. O Silveira foi à sua procura. O Papa quer falar consigo.
– O Papa? – Perguntou, intrigado.
– É uma forma de dizer. O Diretor-Geral está à sua espera.
Pereira dos Santos entrou, apressado, no edifício. Era tão raro ser chamado para reuniões com o principal dirigente da PIC que galgou as escadas, ansioso por saber o que ele lhe queria. Ainda ficou mais perturbado quando o contínuo, de imediato, lhe deu entrada no gabinete, sem um segundo de espera. Era grave, de certeza absoluta.
Alves Monteiro deveria ter quarenta e sete ou quarenta e oito anos e era reconhecido pelo amor à Cova da Beira e ao Fundão, sua terra natal. Alto, cabelo puxado para a nuca, óculos grossos, cigarro sempre na ponta dos dedos, o juiz vivia da poesia e da história, coisa rara entre magistrados. Embora asceta, com fama de rigoroso, a simpatia dele contagiava quem trabalhava à sua volta.
Fez sinal ao Silveira para que fechasse a porta e dirigiu-se ao Chefe de Brigada, convidando-o a sentar-se.
– Desculpe incomodá-lo, Chefe. Acabei de receber um telefonema do Senhor Ministro da Justiça, que me chamou ao gabinete, para discutir comigo um assunto delicado.
Levantou-se, cruzou as mãos atrás das costas e deu algumas passadas no gabinete. Parecia preocupado. Por fim, decidiu ir diretamente ao assunto.
– Sei que é um dos nossos homens mais experimentados, que conhece o mundo do crime como ninguém, e gostava de ouvir a sua opinião. O que sabe o Chefe sobre o atentado contra o Doutor Oliveira Salazar?
Pereira dos Santos não esperava aquela pergunta e foi visível o incómodo.
– Pouca coisa, Senhor Diretor-Geral.
– Esteve lá no dia em que aconteceu, não é verdade?
– Fomos alertados, por gente que vive na Barbosa du Bocage, que uma grande explosão poderia ter morto o Senhor Presidente do Conselho. Preocupado com as notícias fui ao local com alguns homens da minha equipa. Recolhemos vestígios, poucos, e mais nada. Felizmente o Professor Oliveira Salazar estava a salvo. Como Vossa Excelência deve saber, o Capitão Agostinho Lourenço assumiu a investigação e a PVDE tem esse dossiê. Nunca entrou qualquer pedido de colaboração na nossa Polícia.
– Um problema! – Suspirou cada vez mais pensativo. Sentou-se à frente do Chefe e tornou a questioná-lo. – Corre o boato de que a PVDE se enganou na identificação dos autores do crime. Já ouviu algum zunzum?
– É o que corre por aí e, se quer a minha opinião sincera, enganaram-se mesmo. Não pode ter sido o grupo do Alto do Pina a cometer semelhante façanha.
– Tem essa convicção ou baseia-se em factos? – Insistiu Alves Monteiro.
– Eles erraram no que respeita ao explosivo. Nós recolhemos vestígios de nitroglicerina, o que significa que foi usada dinamite. Os peritos militares concluíram que se tratava de melanite, um material muito utilizado pela Rússia. Não examinaram o local do crime em condições. Um dos meus Agentes, o mais novo e, possivelmente, o mais inteligente, passadas semanas voltou à Barbosa du Bocage. Entre outras coisas, encontrou sangue na tampa do esgoto donde foi acionada a bomba. Isto quer dizer que o bombista se feriu com a violência do sucedido. Não existe notícia de que qualquer dos indivíduos detidos estivesse ferido.
O juiz ficou em silêncio, digerindo a informação que o Chefe lhe passava.
– Fala-se que alguns indivíduos se foram entregar, assumindo a culpa do que se passou. Sabe quem são?
– Não conheço, Senhor Diretor-Geral. Pelo que me disseram alguns amigos da António Maria Cardoso, trata-se de motoristas de carros de praça e de um desenhador, que parece ser anarquista.
– Que diabo! Se esses homens se apresentaram voluntariamente, assumindo o crime, por que razão a PVDE não libertou os infelizes que prendeu injustamente? – Alves Monteiro não compreendia aquele paradoxo.
Pereira dos Santos esboçou um sorriso.
– Se conheço bem os procedimentos daquela casa, temo que não os libertem tão cedo.
– Não libertam? – Perguntou, incomodado. – Mas se estão inocentes?!
– Ia ser um escândalo, Senhor Diretor. Depois do abundante noticiário que espalharam pelos jornais, de tantos aplausos públicos e privados, tanto editorial elogioso, Agostinho Lourenço é demasiado orgulhoso para dar o braço a torcer. Com todo o foguetório em volta do caso, seria a descredibilização dele e da sua polícia política. Nem o Professor Oliveira Salazar permitiria esse vexame.
O juiz sentou-se novamente. Estava deveras preocupado. Acendeu mais um cigarro e perguntou:
– Conhece um tal Capitão Baleizão do Passo?
– Conheço. Foi um dos diretores, no início da PVDE, e por desentendimentos com o Diretor-Geral regressou à Polícia de Segurança Pública.
– O que acha dele?
– É um homem sério. – Respondeu Pereira dos Santos com sinceridade.
Por fim, o juiz decidiu abrir o jogo.
– Foi através desse Capitão que o Governo foi informado da barafunda que se passava na Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. O ministro do Interior, que é cunhado do Senhor Presidente do Conselho, não aceitou as verdades impostas pela polícia política e sugeriu ao seu colega da Justiça que fosse feita uma investigação independente ao caso. Teme que os terroristas voltem a atacar.
– E o Senhor Diretor-Geral vai ser incumbido dessa investigação. – Concluiu o Chefe de Brigada.
– Foi a ideia com que fiquei do telefonema do Senhor Ministro. – Respondeu Alves Monteiro, gravemente.
Agora era Pereira dos Santos quem estava de cenho carregado, preocupado com a notícia que acabara de escutar.
– Permite-me um conselho, Senhor Doutor Juiz?
– Diga. Foi também para isso que o chamei. Gostava de saber a sua opinião.
– Não aceite esse convite sem condições prévias. Se quer fazer uma investigação a sério, e que não sirva para encobrir os crimes cometidos pela polícia política, procure garantir a sua segurança e dos homens que, eventualmente, precisa para trabalharem consigo. A PVDE vai reagir como um vespeiro que se sente atacado e são capazes de tudo. Até de matar. Se Vossa Excelência, como tudo indica, não faz parte do grupo de juízes salafrários que se submetem aos caprichos de Agostinho Lourenço, rodeie-se de mil cautelas. Se os senhores ministros estão tão preocupados com a possibilidade de haver mais atentados contra o Professor Salazar, vão aceitar as suas condições.
– É assim tão mau? – Perguntou o juiz, apreensivo.
– Pior do que possa imaginar.
Ficaram ambos calados por momentos. Finalmente, Alves Monteiro levantou-se e estendeu-lhe a mão.
– Caso eu aceite o desafio, estaria na disposição de colaborar comigo?
– Estou aqui para servir a PIC. Se Vossa Excelência precisar de mim e da minha Brigada, estaremos ao seu dispor sem reservas.
– Muito obrigado. Vou falar com o Senhor Ministro.
* * *
O Chefe Baltar espreitou pela janela e viu as pessoas que passavam discretas junto ao cadáver de António Silva.
Fechou-a com estrondo.
– Morreu. Está morto! É menos um bandido para nos atazanar a cabeça. – E dirigindo-se a Samuel, ordenou. – Que haja alguém que retire o cadáver da rua. Quem passa, fica a julgar que nós o matámos.
Gonçalves aproximou-se, quando Samuel já se dirigia para cumprir as ordens que recebera.
– Recolhi os presos. Não se entendem uns com os outros. É uma cambada de ordinários.
Mateus Júnior saiu da sala de interrogatórios e confessou:
– Começo a ficar desanimado com isto. Está armado um verdadeiro entrudo que nem eu me consigo orientar. Temos presos a mais para o caso.
Baltar riu, bem-disposto. Parecia um grunhido.
– Uma polícia política não tem presos a mais. Pode ter de menos, mas nunca em demasia. E quanto a esta balbúrdia, é clarinha como a água. Os bandidos do Alto do Pina que prendeste são os tipos que fizeram o atentado. Os outros terroristas são os tipos que puseram as bombas nos ministérios, na Vacum e por aí adiante. Clarinho como a água.
– Por mim, tudo bem. Também penso como tu.
– Se estamos de acordo e o nosso Capitão concorda connosco, não há razão para que não seja como nós dizemos.
Mateus assentiu. O colega estava a pensar bem. Voltando-se para Gonçalves disse:
– Pede ajuda aos outros e ponham o Chico Saloio e companhia a confessarem os atentados contra os ministérios.
Baltar dirigiu-se ao gabinete. Estava com fome. Desde a madrugada que não tinha parança. Durante a noite, os seus homens realizaram várias buscas em casas de indivíduos suspeitos de serem oposicionistas e chegaram com três deles. Entre os interrogatórios e a confusão armada pelos terroristas, a manhã não dera tempo para engolir um café.
Vestia a gabardina para sair quando Almeida Júnior, pálido, irrompeu pela sala, lábios a tremerem, em grande agitação.
– Acha justo? Diga-me. Acha isto justo? – Engasgava-se nas palavras, tal era a indignação.
Baltar atentou nele com altivez.
– Oh, rapazinho, que tom de voz é essa? Com quem julgas que estás a falar?
– Matou-se um homem. Um infeliz inocente cujo único crime que cometeu foi contra si próprio por beber de mais e o senhor fica preocupado com o meu tom de voz?
Baltar deu um murro na mesa, irritado com a interpelação.
– Aqui não há inocentes. Nem tu és inocente, portanto, não te faças de anjinho.
– Para servir o Estado Novo não é preciso recorrer a esta brutalidade contra gente simples que nem sabe o que é a política.
A irritação do Chefe transformou-se em fúria. Espetou um dedo no peito do Agente e vociferou:
– Chega! O Estado Novo não quer saber o que tu pensas ou dizes. Nem eu quero saber. Se o nosso serviço te causa tanta revolta, escolhe outro poiso. Aqui não é lugar para moralistas. Ou julgas que não sabemos que andas a fazer queixinhas ao teu amiguinho Baleizão do Passo por causa das tuas ansiedades? Põe-te direito, Almeida! Se queres ter saúde, põe-te direito. E, já agora, estás proibido de contactar com os presos ligados ao atentado. Não passas de um palerma que lê demasiados catecismos e bíblias. – Enfiou o chapéu na cabeça e rematou: – Vou almoçar que não tenho tempo para aturar inteligentes. Sai daqui. Não voltas a entrar no meu gabinete, estás a ouvir?
Voltou-lhe as costas, sem que Almeida fosse capaz de articular uma palavra que fosse. Mal ficou sozinho, percebeu que tinha ido longe de mais. Não se afrontava um Chefe com a brutalidade de Baltar sem sofrer consequências. Estava em perigo e o primeiro impulso foi sair da corporação. Regressar à Polícia de Segurança Pública, donde viera, e prosseguir a vida ao serviço da Pátria sem ser confrontado com a bestialidade que diariamente testemunhava.
Na verdade, o incómodo de Almeida Júnior começara logo pela manhã ao passar os olhos pelos matutinos. Era claro que a confusão gerada pelo atentado chegara ao conhecimento dos jornais. Os editoriais e as notícias eram sub-reptícios, para induzir a informação e, deste modo, fugir ao controlo da Censura. Porém, a insinuação, o trocadilho das palavras, as imagens narrativas, não deixavam margem para dúvidas. O segredo, guardado a sete chaves dentro das paredes da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, passara para o domínio público e o nervosismo era grande nas brigadas comprometidas com o caso. Também a direção estava em alvoroço. Ao passar junto ao gabinete do Diretor-Geral, Agostinho Lourenço estava tão irritado que a voz fazia-se ouvir no corredor.
– Como pode ter isto acontecido, Amorim? Porque é que a Censura deixou passar estas notícias? O que é que tu não fizeste para que possam insinuar que nos enganámos na prisão dos terroristas?
– Os jornalistas são o diabo.
– Cala-te que ainda não terminei. Confiei em vocês, afastei o Maia Mendes deste caso por julgar que eram mais capazes e, afinal!, tenho à minha frente dois bananas. Dois palermas! Protege este caso, Catela, os dois protejam este caso, ou, então, vão saber de que massa eu sou feito. Ponham-se na rua!
Almeida Júnior afastou-se pelo corredor e reparou nos capitães Catela e Amorim a saírem do gabinete, visivelmente desesperados. Cumprimentou-os, mas nenhum respondeu.
Pensou em procurar o seu amigo Baleizão do Passo, mas desistiu da ideia. Pedir transferência no meio daquela ebulição de homens com os nervos em franja só podia voltar, ainda mais, as atenções sobre si. E porque conhecia a massa de que a maioria era moldada, restavam-lhe poucas dúvidas de que rapidamente seria transformado em traidor e inimigo da Pátria.
* * *
Albertina subiu, ansiosa, a Rua da Misericórdia. Não entendia a ideia de Arengas de querer falar com ela num confessionário. Algo de estranho e urgente acontecera para a marcação de tão inesperado encontro. Não deveria ser nada que dissesse respeito a Carolino. Ele almoçara em casa e continuava na mesma exaltação delirante sobre os inimigos do Estado Novo. A relação dela com o detetive até diminuíra a conflitualidade entre o casal. A mulher deixara de embirrar com os estremeções de amor pátrio do marido, mais atenta aos sinais de que ele pudesse suspeitar da sua atividade extraconjugal. A inexistência de outra intimidade que não fossem as refeições, e uma ou outra reza, também ajudava a manter o equilíbrio, embora precisasse cada vez de mais esforço para suportar os desvarios do coronel.
Entrou cautelosamente no templo. Estava deserto. Olhou em volta, deu alguns passos em silêncio, e só quando viu agitar a cortina do habitáculo confessional teve a certeza de que Arengas a esperava.
Ajoelhou frente à janela gradeada de madeira e, por inércia, benzeu-se.
– Albertina? – Sussurrou o suposto confessor.
– O que se passa? Que disparate é este? – Perguntou, intrigada.
– Fala baixo e escuta-me.
– Se alguém nos vê, vai ser um sarilho.
– Toma atenção, que não temos muito tempo. Estás a ser seguida pela Polícia do teu marido.
Albertina quase desmaiou, incapaz de acreditar naquilo que ouvia.
– Eu? A ser seguida?
– Eu vi. Repara quando saíres. Verás um homem que está de vigia, embora disfarce o propósito quando te cruzares com ele.
– Isso não é possível. Nem o Carolino desceria tão baixo. – Reagiu, cada vez mais nervosa.
– Ele anda manso contigo ou notaste alguma alteração de comportamento? – Quis saber Arengas.
– Normal. As baboseiras de sempre por causa de Salazar.
– Pois.
Arengas ficou sem palavras. Aquela mansidão do homem não era coerente com a ideia que formulara. Estava convencido de que fora o coronel quem ordenara a vigilância.
– Tu tens a certeza do que me disseste? – Albertina já não escondia a perturbação, com a voz embargada pelo medo.
– Acalma-te. Não é por ficares nervosa que eles vão deixar de te seguir. Inventa qualquer coisa para amanhã ou depois de amanhã não ficares em casa. Que tens de ir ao Porto ver a tua irmã ou qualquer coisa do género. Embarcas no Rossio e sais logo em Campolide. Estarei à tua espera para falarmos com calma sobre este mistério.
– Não sei como hei de fazer uma coisa dessas. Nunca fiz.
– Corres perigo, Albertina. Se me dizes que o teu marido não desconfia de nada, outra razão haverá para que esses bandidos te vigiem.
– Qual? – Perguntou em desespero.
– Tens algum amigo ou amiga que seja da oposição?
Arengas aproveitou para entreabrir o cortinado do confessionário e fiscalizar o ambiente. Apenas uma velhota entrara e ajoelhara para uma oração. Porém, no exterior da igreja, o Agente da polícia política aguardava pacientemente, andando de um lado para o outro.
– É impossível. As pessoas com quem nos damos são da União Nacional, do Exército, da Legião, altos funcionários do Estado Novo.
Arengas continuava intrigado, incapaz de penetrar no segredo que tornara a sua amada numa pessoa interessante para a segurança do Estado. Precisava de pensar sobre o assunto.
– Não podemos estar aqui muito mais tempo. Quando souberes que te podes escapulir sem levantar suspeitas, manda-me recado. Vou tentar saber o que aconteceu.
– Estou muito assustada.
– O susto vai acabar. Agora, quando saíres, passa junto ao homem de gabardina castanha e desata a gritar que te estão a roubar. Pede socorro.
– Porquê? Ó meu Deus! Sinto-me tão aflita que nem sei se sou capaz de me levantar daqui.
Arengas encorajou-a.
– Vais conseguir. E grita, grita muito por socorro. Confia em mim, minha querida.
– Eu vou. – Balbuciou, enquanto se benzia.
Albertina ergueu-se e as pernas tremeram. Ao encaminhar-se para a saída viu o vigilante, que disfarçadamente escondia o rosto. Não soube donde nasceu a coragem. Ao passar por ele, roçou-lhe com o ombro no braço e, de súbito, desatou aos gritos.
– Ladrão, socorro! Ladrão!
O barulho foi tal que acorreram homens que se espalhavam pelo Largo da Trindade. Uma varina apregoou o alerta e um ardina replicou os gritos de socorro.
– Ajudem, estão a roubá-la.
Desorientado no meio da confusão que se gerou, o vigilante tentou resguardar-se e foi, nesse instante, que começou a receber valentes murros, que o atiraram ao chão. Nem conseguiu identificar quem o atacava com tal violência. Quando acordou, longos minutos depois, tentou sair do atordoamento que o desequilibrava. Sangrava do nariz e o rosto, por causa do inchaço, parecia ter duplicado. Ninguém o ajudou e o largo estava deserto.
Nesse mesmo instante, Albertina chegava a casa e Arengas atravessava os Restauradores em direção ao Torel.
O estagiário Rosa Casaco mal sabia explicar ao Capitão Amorim que tempestade tinha desabado sobre ele.
– Não viste quem te bateu? – Perguntou, observando a cara desfigurada do subordinado.
– Foi tudo tão rápido que não deu tempo. O raio da gaja começou a gritar que estava a ser roubada, acudiram vários homens que não me deixaram explicar nada e desataram a bater-me. Tenho a ideia de que foi um deles, mais forte do que os outros, que me deitou abaixo.
– Não teria sido o amiguinho dela?
– É impossível. Não o vi na zona. A igreja estava vazia e ela foi confessar-se. O que devo fazer, Senhor Diretor?
– A cabra foi confessar os pecados. Muito bem! Não voltas a segui-la. Vou chamar o Oliveira para continuar este serviço.
Arengas ainda não almoçara. Entrou na tasca para comer duas pataniscas de bacalhau e o Tibornas atirou:
– Já vi que andaste à pera.
– És um sábio. Dá aí um copo de três.
– Tens os punhos esfolados. Foi pancadaria e da grossa.
– Um gatuno ordinário que estava a roubar uma velhinha.
Tibornas ficou agradado com a ideia.
– Só se perdem as que caem no chão, c’um cacete. A cidade está cheia de ladrões.
– És o primeiro. Roubas nos preços, martelas o vinho e enches os bolsos à conta dos papalvos.
– Não comeces, Arengas. Tu não comeces! – Tibornas azedou-se com a conversa.
– É o que eu digo. Vivemos num país onde os tipos com massa, como tu, estão sempre na mó de cima e só se lixa o mexilhão.
* * *
O juiz Alves Monteiro já esperava há mais de meia hora para ser recebido pelo ministro da Justiça. Estava inquieto. Pela antecâmara do gabinete passavam funcionários discretos. Uma mulher forte, com seios desmesurados, atendia o telefone enquanto tricotava seguindo um desenho que copiava de uma revista de bordados e, junto à porta, um contínuo inexpressivo, de pose altiva, esperava que o mandassem cumprir qualquer ordem. Os tapetes de Arraiolos silenciavam os sons dos passos e só de vez em quando a voz da mulher crepitava na sala.
– Alô? Gabinete do Senhor Ministro.
O ambiente soturno contrastava com a animação do espaço que se abria defronte do ministério. Cavalos puxando carroças que prestavam serviços de aluguer, elétricos que cruzavam o Terreiro do Paço rinchando sobre os carris, automóveis que buzinavam insistentemente, vendedoras de flores, de balões, de bananas, gente apressada que partia e chegava nos cacilheiros, entre os quais pontuava o Zagaia, novinho, acabado de estrear, gaivotas estridentes a voarem entre o rio e os beirais dos palácios.
Finalmente, a porta abriu-se solenemente e o hirto contínuo indicou com a mão o caminho a Alves Monteiro.
O ministro esperava-o no meio do gabinete e aproximou-se para o cumprimentar, indicando o sofá onde se iriam sentar. Saudou-o com um sorriso.
– Meu caro Diretor-Geral, é um prazer recebê-lo.
– Às ordens de Vossa Excelência, Senhor Ministro. – Retribuiu com delicadeza.
Manuel Rodrigues era um homem calmo. Professor da Faculdade de Direito de Coimbra, companheiro de Oliveira Salazar logo nos primeiros dias do Estado Novo e Ministro da Justiça desde que foi estabelecida a nova Constituição, gozava de boa reputação política.
– A tarefa que lhe peço é delicada. – Começou por dizer. Via-se que procurava as melhores palavras para expor o assunto. Pigarreou e ofereceu cigarros a Alves Monteiro. – Tive uma conversa com o meu colega do Interior, Pais de Sousa. Como sabe, é cunhado por afinidade de Sua Excelência.
– É cunhado da irmã, Laura Salazar. – Precisou Alves Monteiro.
– Isso mesmo.
A conversa era como o voo de uma águia, rodopiava em volta da presa, esperando o momento certo para o ataque. Desconfiou de que o ministro procurava ganhar tempo.
Finalmente começou a aproximar-se do tema.
– É complicado. Esta história do atentado está a fazer uma grande mossa. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. O Senhor Capitão Agostinho Lourenço insistiu junto de Sua Excelência que tudo estava esclarecido, mas existe um grande nervosismo por causa de um outro grupo de indivíduos que terá assumido o crime.
– Já ouvi falar, mas não conheço pormenores. – Adiantou o juiz para quebrar o solilóquio.
Manuel Rodrigues forçou um sorriso.
– Chamei-o porque precisamos de fazer um casamento.
– Um casamento? – Perguntou, surpreendido, Alves Monteiro.
O outro riu com gosto.
– Tem razão. Não é a melhor palavra. Quer dizer, um acordo, caso o meu amigo esteja disposto a tal. O Senhor Ministro do Interior está a chegar e vamos ver se é possível chegar a um entendimento.
– Vem sozinho? – Perguntou Alves Monteiro, desconfiado.
– A reunião está agendada para ser entre nós os três.
Nesse momento, o contínuo franqueou a porta ao Ministro Pais de Sousa. Foi com surpresa que o seu colega da Justiça reparou que entrava acompanhado por Agostinho Lourenço.
– O Senhor Diretor-Geral da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado pediu-me para estar presente como mero observador. Claro que não lhe podia dizer que não.
Agostinho Lourenço cumprimentou friamente o ministro e o juiz e sentou-se sem qualquer cerimónia, fixando os presentes, sendo clara a intenção intimidatória do chefe máximo da polícia política.
Pais de Sousa assumiu o propósito da reunião.
– Vamos ser francos uns com os outros. O Senhor Presidente do Conselho sabe que estamos aqui reunidos e deseja que resolvamos este imbróglio.
Manuel Rodrigues, procurando desanuviar o ambiente, assinalou para Alves Monteiro.
– Como vê, não é um casamento. Apenas um acordo.
O colega do Interior não percebeu o aparte e continuou:
– Está criada uma situação em torno do atentado contra Sua Excelência que é preciso ultrapassar e lembrámo-nos do Senhor Doutor Juiz para esclarecer o problema.
– Na qualidade de juiz ou de Diretor da Polícia de Investigação Criminal? – Quis saber enquanto olhava para Agostinho Lourenço, que brincava com o fumo do cigarro, parecendo indiferente ao rumo da conversa.
– É esse o ponto. Queremos que o senhor investigue o que falta investigar no processo do atentado. Por razões de Estado, o meu amigo e Doutor Manuel Rodrigues concordou que este caso ficaria sob a minha jurisdição. O Senhor Doutor Juiz escolhe os seus homens entre o pessoal que dirige na PIC, o nosso bom Capitão Agostinho Lourenço vai enviar-lhe cópia daquilo que já está investigado e o senhor tratará de separar o trigo do joio. O que me diz?
O chefe da polícia política continuava a fumar, aparentemente a apreciar a decoração do teto do gabinete, soltando rodinhas, ausente da conversa. Alves Monteiro descortinou naquela distanciação algo de ameaçador e retorquiu instintivamente:
– Terei todo o prazer em ajudar Vossas Excelências, mas precisamos de ponderar algumas condições.
Os dois membros do Governo franziram as testas de tão intrigados e Agostinho Lourenço, pela primeira vez, encarou o juiz, desconfiado.
– Condições? Quais condições?
– Terei acesso a todos os detidos e aos Agentes envolvidos na investigação. Será necessário entrevistá-los para perceber a evolução e o contexto do caso.
Os ministros entreolharam-se e fixaram-se no Diretor da PVDE, que assinalou com um suave meneio de cabeça a sua concordância.
– Com certeza. Nada a opor. – Informou Pais de Sousa.
– Nem eu, nem os homens que eu designar seremos objeto de perseguição, retaliação ou suspeição, se o andamento do corpo de delito se distanciar das convicções atuais.
Manuel Rodrigues reagiu com desconforto.
– Por amor de Deus, Senhor Diretor-Geral, estamos entre amigos, homens fiéis ao Estado Novo, pessoas dedicadas à obra de Sua Excelência.
– Eu sei. Se, conforme julgo, Vossas Excelências procuram com sinceridade esclarecer o assunto, não levarão a mal os pressupostos que vos coloco porque a verdade que se procura é do interesse de todos e, particularmente, do Senhor Professor Oliveira Salazar.
– Claro, claro. Mas não passa pela cabeça de ninguém perseguir quem serve lealmente o Estado Novo, como é o caso de todos os presentes. Não é verdade, Senhor Capitão?
Agostinho Lourenço esmagou a ponta do cigarro e respondeu com desprezo:
– Patranhas! Todas estas condições são patranhas.
Saiu do gabinete sem cumprimentar qualquer dos presentes.
Embaraçado, o ministro do Interior procurou desculpar a insolência do homem de confiança do Presidente do Conselho.
– Não lhe leve a mal. Anda nervoso com tudo isto.
O juiz levantou a mão num gesto de apaziguamento.
– Eu compreendo-o. Também não gostaria que um intruso invadisse os territórios da competência da Polícia de Investigação Criminal.
– Garanto-lhe, Doutor Alves Monteiro, que terá todas as condições para trabalhar neste mistério. Mais importante do que amuos ou birras de ocasião, importa salvaguardar a vida de Sua Excelência e só com os verdadeiros terroristas detidos é possível algum descanso. Para já, passou a viver no Palácio de São Bento, perto da Assembleia Nacional. A Rua Bernardo Lima deixou de ser segura. Agora, trata-se de esclarecer de uma vez por todas quem o quis matar à bomba.
Com esta tirada, Manuel Rodrigues deu por finda a entrevista.
Quando saiu, o juiz respirou de alívio. Bem o aconselhara Pereira dos Santos. Não foi a investigação que se seguiria que azedou o Chefe da polícia política. Foram as condições que ele colocou. Apesar da boa-fé dos dois ministros, não teve qualquer dúvida do que ia acontecer. A PVDE interviria para obstar a que outra verdade, para além daquela que haviam anunciado com pompa e circunstância, fosse conhecida.
* * *
Agostinho Lourenço entrou na sede da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado em passo acelerado. Era visível a irritação na expressão fechada do rosto. Passou pelo Capitão Amorim e ordenou com aspereza:
– Chama todos os diretores. Quero-os reunidos dentro de cinco minutos.
Subiu a escadaria em direção ao gabinete mastigando a raiva. Era a primeira vez que Salazar lhe dava um sinal tão claro. Nas reuniões semanais, que duravam desde que começaram a construir a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado e o sistema de controlo de informações sobre a ameaça política oriunda da União Soviética, não houvera um momento de desacordo. Ao longo dos últimos quatro anos, construíra-se uma comunhão de objetivos em que o Capitão conseguia adivinhar as preocupações do Presidente do Conselho para logo procurar implementar as medidas concretas para a defesa do Estado. Como fora o grande esforço para a fiscalização de fronteiras, ao qual a guerra civil em Espanha viera dar um impulso acrescido, e noutras áreas de vigilância sobre agentes subversivos que culminara na abertura do campo do Tarrafal.
Sabia que Salazar confiava nele e correspondia entregando-lhe lealdade incondicional. Com o tempo, deixaram de ser um chefe e um subordinado. Tornaram-se amigos. O sistema complexo de informação criado por Agostinho Lourenço entregava instrumentos de gestão política inexcedíveis. Sabia o que faziam os seus ministros, aquilo que pensavam os generais, os caprichos dos deputados, a disponibilidade de governadores civis e regedores. A rede levou quatro anos a ser montada e agora respondia com eficácia, assinalando qualquer movimento que alguém fizesse na hierarquia social, desde o homem mais poderoso até ao mais humilde dos camponeses. Acreditava, sem exagero, que o País estava nas mãos de Salazar graças ao seu esforço e talento. E, de súbito, ocorre o atentado. Logo na primeira conversa, pressentiu que havia incómodo com aquele lapso, que permitira a terroristas perturbarem a missa dominical, e bem se penitenciou por não ter acautelado aspetos mais comezinhos da segurança pessoal do Presidente.
Sentiu a necessidade de desferir um violento e rápido golpe nos miseráveis atores do crime para repor a confiança abalada pelo incidente, mostrando a exemplaridade da sua Polícia na defesa do Homem que iluminava os destinos de Portugal.
Afinal, a pressa em resolver o caso tornara-se num tiro de ricochete, que culminara na reunião a que acabara de assistir. A mensagem era clara. Salazar queria que fosse escrutinado, pela primeira vez, por uma entidade externa.
Passou o olhar pelos seus diretores, alinhados à sua frente, e não escondeu a irritação.
– Tenho passado a minha vida servindo o País sem olhar a desafios. Fazendo esforços, que só Deus conhece, na procura da perfeição. A estimular a competência, a dar exemplo de rigor e dedicação à Causa que jurámos servir. Depois de tanto esforço, de tanto sacrifício, vejo a instituição a quem dei tudo humilhada pela vossa incompetência, pelo vosso desleixo.
Carolino não se conteve e atalhou:
– Se Vossa Excelência me permite...
– Não permito nada. – Cortou, sibilino, para continuar no mesmo tom: – Ainda não acabei! A vossa falta de brio fez com que o caso do atentado passasse das nossas mãos para as do Diretor da PIC.
A cólera explodiu no murro que deu na secretária.
– Ninguém rouba o que é nosso!
Vociferou. Por momentos, fez-se silêncio na sala. Os subordinados conheciam a discrição dos seus comportamentos, as palavras contidas, os sorrisos desmaiados. Um solitário sisudo sem estados de alma. Dir-se-ia que não era habitado por emoções. Aquele murro na mesa, para surpresa geral, mostrava-lhes que, afinal, também era feito de carne e osso.
Mais calmo, prosseguiu o sermão.
– Chegou a hora de provarem que merecem pertencer à Polícia do criador do Estado Novo. Do homem que deu um sentido a Portugal, que se preocupa com a vossa vida, com o futuro dos vossos filhos. – A entoação tornou-se grave. – Resumindo, chegou a hora de provarem se pertencem ou não a Salazar.
O incómodo apossou-se dos presentes e o Capitão Amorim foi o primeiro a romper o silêncio.
– Conte comigo para morrer por ele.
– A minha vida é sua e dele, Senhor Diretor-Geral. – Jurou Catela.
Não deixou que continuassem os juramentos de fidelidade, dando orientações determinantes para a batalha que não poderiam perder.
– Vamos continuar a investigação. Catela, envie uma cópia do processo para a Polícia de Investigação Criminal. Nós ficamos com o original e estão todos mobilizados para resolver seja o que for que exista para resolver, antes de qualquer outra pessoa. Temos de ficar a par de tudo quanto o Monteiro Alves sabe ou vai saber. Com quem fala, com quem falam os homens que ele escolher para o ajudar. Quando tudo isto terminar, só vai haver uma verdade. A nossa verdade! Quem cometeu o atentado foi o grupo do Alto do Pina. – Levantou o tom de voz.– Alguém tem dúvidas? Repito, foi o grupo do Alto do Pina e mais ninguém!
* * *
Albertina sentia-se asfixiada. Saber que era vigiada retirou-lhe o último pingo de alegria que lhe dava força para viver.
O casamento que o pai prometeu não era, afinal, o tempo do conforto e da felicidade. Transformara-se numa terrível prisão sem grades, cercada por muros tão altos que não havia um único sinal de esperança. Dez anos de desilusões, feitos de rotinas e de indiferença, sem prazer, submetida aos caprichos de um marido que não existia. Era apenas o homem que se tornara seu dono. Quando o tempo se esvazia entre as mãos e se passa horas e dias à espera do impossível, vagueando pelos sonhos desfeitos e por outros que não se podem construir, chega a temível solidão que vai matando devagarinho.
Arengas começou por dar um pontapé nesse mundo negro onde Albertina definhava. Uma rebelião sem causa. Um grito de desespero. E uma dádiva. Ele anunciou-lhe a descoberta do seu próprio corpo, origem de vida e de prazer. Destapou-lhe a fonte dos orgasmos, do desprendimento e da entrega sem condições. Da posse mútua do desejo. A vibração incontrolável dos beijos apaixonados, abraços que iam para além do simples gesto de encontrar o outro. Espantava-se consigo própria ao perceber que passara dez anos a dormir com um homem que fazia do egoísmo uma das suas maiores fés. Enojou-se de si mesma quando descobriu os prazeres perversos do marido, vontade de vomitar ao vê-lo olhar com lascívia as crianças, filhas dos amigos comuns.
Já suspeitara da maldição ao perceber que Carolino tinha sempre nas algibeiras do sobretudo ou da gabardina doces, pequenos brinquedos, bijutaria com que as mais novas adornavam bonecas e princesas de papelão. Até àquela noite em que ouviu o telefonema que marcaria a repugnância pelo grande acólito do Estado Novo.
– Não as quero nem muito pequenas, nem muito adultas. Coisas aí para os seus dez ou doze anos. Dinheiro não é problema e quero-as virgens. Sim, virgens dão-me mais prazer.
Nessa noite terrível, entre lágrimas humilhadas e raivas surdas, jurou que nunca mais aquelas mãos pérfidas lhe tocariam o corpo. E sentiu saudades do seu pai. Fosse vivo e teria corrido para o seu colo para lhe contar tamanho infortúnio que a humilhava até ao cerne da alma.
Depois de encontrar Arengas, a angústia esmoreceu. Na verdade, ele também era um pedaço de vingança contra a luxúria de Carolino, embevecido por meninas, como ele dizia, coisas entre os dez e os doze anos.
Agora, tantos anos depois, via as ruas da liberdade, mas não lhe conseguia chegar. A terrível prisão onde vivia enjaulada fora, agora, reforçada por um mastim que lhe seguia os passos.
A amargura era tal, a impotência tão desvairada, que decidiu regressar à igreja para se confessar. Precisava de ouvir uma voz amiga, alguém que a ajudasse a sair do terrível precipício onde se afundava.
Deus quisera que assim fosse. Gostava de saber porque foi a escolhida para tão doloroso tormento.
– Venho aqui em desespero, senhor padre.
– Abre o teu coração a Deus, minha filha, que Ele te escutará.
– Cometi pecados bem graves, porém, vivo com um segredo que me mata devagarinho e não sei lidar com ele.
– O que te atormenta, minha filha?
– Descobri que o meu marido abusa de crianças. Paga para desonrar meninas com onze, doze anos.
O sacerdote benzeu-se ao ouvir tal infâmia.
– Que Deus tenha piedade dessas inocentes.
– Tenho nojo dele.
– Ele comete pecado bem grave, mas é teu marido.
– Devo calar-me? A minha alma cristã não consegue viver com este monstro. – Reagiu, indignada.
– Não podes afrontar os juramentos sagrados que fizeste no matrimónio. Pertencer-lhe-ás até que a morte vos separe. – Sussurrou, piedoso.
– Como posso pertencer a alguém que desafia o que de mais obsceno pode existir na condição humana?
– São insondáveis os caminhos do Senhor, minha filha. Só através da oração lhes terás acesso, na comunhão com Deus Pai.
Albertina estava disposta a ir até ao fim de uma confissão sincera e disse:
– Não sou capaz de cumprir esse voto. Encontrei outra pessoa que amo profundamente.
O tom do confessor mudou repentinamente.
– O amor adúltero é contra a Lei de Deus. Estás em pecado, e pecado bem grave. – Censurou com rudeza.
– E o meu marido não está? Tenho de calar-me ao vício blasfemo dele porque lhe pertenço e não posso amar outro homem porque é contra a Lei de Deus? É injusto aquilo que me pede.
O padre recuperou a serenidade ao ouvir a revolta de Albertina e sussurrou com doçura:
– Deus é a justiça divina. Infinitamente misericordioso, capaz de perdoar os teus pecados e os do teu marido. Submete-te à penitência e pede perdão. Ele te perdoará os pecados terríveis que estás a cometer.
– Pedirei perdão, embora não consiga mandar no meu coração. Agora ele, com as responsabilidades que tem, devoto como é, não estaria obrigado a pedir perdão pela sua perversão?
– O que faz o teu marido? – Perguntou.
– É um alto funcionário da PVDE.
Por alguns segundos o confessionário ficou em silêncio.
– O quê? – Parecia não ter compreendido.
– É um alto responsável da polícia política.
O homem saltou do lugar, expondo-se à pecadora. Parecia alucinado.
– O que é isto? Eu não ouvi nada do que a senhora disse. Não ouvi e nem quero saber. Faça o favor de não voltar aqui. Quer comprometer-me, não é? Era só o que me faltava. Não ouvi nada. Nada!
Afastou-se a correr, enrolado na estola e na batina, com as mãos nas orelhas e incapaz de escutar mais uma palavra da pérfida, como se atrás dele fosse Belzebu.
Regressou a casa ainda mais vergada. A caminhada de nada valera. Afinal, acabara por descobrir que os ministros de Deus, os mais valentes soldados no combate pela salvação das almas, fugiam amedrontados da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado.
Sentou-se, vencida. Em Albertina ia crescendo a convicção de que viver não poderia ser o deserto por onde caminhava. Talvez a morte a libertasse para o universo de luz e paz que existia dentro de si.
A chegada de Carolino sobressaltou-a do marasmo. Às primeiras impressões teve a certeza de que não era ele o perseguidor.
– Minha querida Albertina! Desculpa o atraso, mas esta deslocação aos postos da fronteira é arrasadora. Fui a Elvas, a Barrancos, a Ficalho. Uma estopada de três dias com mais de seiscentos quilómetros por caminhos de mato. Temos um orçamento muito apertado, o nosso Diretor-Geral pede rigor e poupança. Como se pode poupar, Santo Deus? Cada vez é maior a confusão na raia. Contrabandistas, multidões de rojos que chegam em bandos, fugidos da guerra e com a intenção de contaminarem Portugal com as suas ideologias tenebrosas. É um esforço danado recambiá-los para Espanha. Despesa e mais despesa.
Interrompeu o monólogo para logo continuar a dissertação.
– Desculpa, não perguntei pela tua saúde. Estás bem? Que estafa! Felizmente, o Senhor General Franco está a pôr na ordem os malditos republicanos. Gente ruim que deu cabo daquele belo país com as aventuras comunistas. Estão por dias. As tropas nacionalistas tomaram Bilbau e Santander, acabou-se o apoio basco e estão por dias. Falta Madrid e Barcelona. Ai, os meus pés! Ajudas-me a descalçar? – Albertina atendeu em silêncio ao pedido de Carolino. – Tenho os pés num estado! Obrigado, minha querida. Anima-te que a coisa está por dias. Todas as semanas mandamos dezenas de rojos para Badajoz. As metralhadoras não param de matar a cambada de parasitas. O que é o jantar? Venho esfomeado. Isto são os joanetes. Os pés incham e os joanetes guincham.
Já terminavam a refeição quando Albertina conseguiu falar.
– Tenho de ir ao Porto visitar a minha irmã. Está doente.
– Coitada! Fazes bem.
– Se calhar vou demorar uns dias.
– Claro. É um dever cristão ajudar o próximo. Vou escaldar os pés. Os joanetes dão cabo de mim.
E saiu da sala trauteando o hino da Falange.
* * *
Frederico viu Monteiro Alves entrar no gabinete de Pereira dos Santos e murmurou:
– Pessoal, é o nosso Diretor-Geral. Levantem-se.
Arengas olhou-o, surpreendido.
– O Papa desceu à terra dos pobres? Não deve ser para dar nada.
Eurico criticou-o, entredentes.
– O homem é gentil, não sejas ordinário.
– Não é assim, na missa? Quando o padre chega, toda a gente se levanta.
– Mas aqui não és obrigado a ajoelhar-te. – Brincou Frederico.
Alves Monteiro, já de saída da reunião, cumprimentou os três agentes com um gesto de cabeça e retirou-se. Quanto ao Chefe de Brigada, arrumou alguns papéis sobre a secretária e dirigiu-se à sala onde os seus homens trabalhavam.
– Temos um grande sarilho entre mãos, meus caros.
– Eu não disse? – Comentou Arengas.
– O caso do atentado contra o Professor Oliveira Salazar foi retirado da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado e vai ser instruído pelo nosso Diretor-Geral. Foi uma decisão conjunta dos ministros do Interior e da Justiça. Ele pediu-nos que fizéssemos parte da equipa que vai formar para trabalhar nesta investigação.
– É fatal como o destino. Ande a merda por onde andar vem cair-nos sempre em cima. – Desabafou Arengas.
– A polícia política como reagiu a essa decisão? – Quis saber Simão.
– Esse é o grande sarilho. Não estão nada satisfeitos. Embora tivessem sido colocadas condições para investigar o caso, e que foram aceites, o nosso Diretor não ficou tranquilo.
– Que grande bronca! – Exclamou Frederico.
– Como é que vai ser, Chefe?
– Precisamos de fazer um novo pacto de silêncio antes de continuarmos esta conversa. A nossa segurança, o êxito deste trabalho, obrigam a que nem uma palavra seja dita fora desta sala. Compreendem? – Os Agentes assentiram com silêncios de aprovação. – Muito bem! O Senhor Doutor Alves Monteiro vai presidir a todas as diligências e eu sugeri o nome do Frederico para o secretariar. Eu e o resto da Brigada faremos as diligências externas necessárias que ele nos ordenar.
– Com certeza, Chefe. – Aquiesceu o detetive.
– A polícia política não vai embirrar connosco? Esse tal compromisso dos ministros soa-me a falso. – Comentou Eurico.
– Também me cheira a esturro. – Concordou Pereira dos Santos. – Nenhum governante tem poder para se opor à autoridade de Agostinho Lourenço. Vêm problemas sérios a caminho e a única forma de os afastar é funcionando como se fôssemos um só corpo. – Tornou a olhar os Agentes, um a um, procurando descortinar as inseguranças, e terminou, retórico: – Seja como for, confiam em nós e temos de merecer essa confiança.
Entardecia quando a reunião chegou ao fim. O Chefe retirou-se e Arengas brincou:
– Tenho duas qualidades que, depois desta conversa, aplaudo a mim próprio. A primeira é ser raro andar bem barbeadinho, bem compostinho. Nunca tive jeito para me adornar à maneira. A segunda é por ser sempre um trapalhão a escrever na máquina de dactilografar. Duas virtudes de que nunca me arrependerei e que condenam o nosso Frederico a andar alinhado, bem comportadinho, porque junto do Diretor-Geral não há bocas, nem arrotos, nem gajas. Vais ser um anjinho do Estado Novo.
– Foi bem escolhido. É de todos nós o mais disciplinado. – Afirmou Simão e, dirigindo-se a Frederico, informou-o: – Tenho algum trabalho feito sobre esse caso. Se perceberes que vai ser necessário, conta comigo.
Eurico foi mais longe.
– Preparem-se, meus senhores. Não vai demorar muito tempo até a polícia política fazer uma ficha sobre cada um de nós. Se têm familiares do reviralho, avisem-nos. Não vai escapar ninguém ao grande Olho do Senhor!
Arengas não se conteve.
– Desculpem lá a minha ignorância. Que raio de motivo faz com que esse tal Agostinho Lourenço seja o medo de toda a gente? Fala-se sempre nele como se fosse o Cardeal Richelieu do nosso querido Salazar. Quer dizer, chamo-lhe querido por medo de que as paredes tenham ouvidos.
Eurico não achou graça ao desvario do colega.
– Não brinques com coisas sérias. Richelieu foi ministro de Luís XIII. Havia na sua cabeça um projeto de governo. O Chefe da polícia política não tem preocupações desse género.
– Se é assim, donde lhe vem tanto poder?
– É o mastim do teu querido Salazar. Diz-se que fala pouco, porque, deves conhecer o aforismo, cão que ladra não morde. É o grande vigia do rebanho ajudado pela sua matilha. Não ladra, embora morda com brutalidade. São os cães de Salazar!
* * *
Na António Maria Cardoso, a notícia da investigação à investigação que ali estava em curso caiu como uma bomba. Desdobraram-se as indignações, multiplicaram-se os cochichos, as conversas sussurradas. Os principais atores do processo do atentado percebiam os sorrisos de escárnio, explodiam discussões a propósito de banalidades e a maledicência à solta previa que Salazar corresse a pontapé com o grande timoneiro daquela nau.
O grito a rebate proclamado por Agostinho Lourenço soltou os abutres. A direção incitava-os à carnificina, à fome de capturas, fosse de dia ou de noite, a fechar qualquer porta que, eventualmente, se pudesse abrir a Alves Monteiro nas vielas de Lisboa.
Os chefes de Brigada forneceram indicações precisas sobre a caçada, para que aquela corrida contra o tempo terminasse antes de qualquer outra. Para abocanhar presas e metê-las no covil, onde as suas almas seriam esventradas.
– Compreenderam como vai ser?
Baltar não conseguia esconder o desprezo pela decisão ministerial.
– É indecente que nos façam uma coisa destas. Como é que se atrevem a passar um caso tão importante para uma Polícia de pilha-galinhas?
– Não se irrite, Chefe. Nós vamos comê-los vivos.
– Uns pilha-galinhas. Uns merdas!
No outro lado, Mateus Júnior fazia promessas de ódio eterno.
– A paródia vai acabar, nem que seja a tiro. Ponham os presos a falar, a dizer aquilo que sabem e o que não sabem. Chega de piedade para com os canalhas. Podem ser inimigos do Estado Novo. Pouco importa! Agora, são os nossos inimigos.
No setor dirigido por Amorim, os telefones não paravam.
– Senhor Coronel, estou-me a cagar para quem é o chefe da Censura, está a ouvir? Ou quer que mande aí dois dos meus Agentes buscá-lo para a conversa ser mais direita e sem confusões? Não passa uma única notícia, nem nenhuma crónica, sem o conhecimento do meu Diretor-Geral. Como? Não importa o tempo que os jornalistas perdem. Estamos a falar de escória. Esses bandoleiros que publiquem mais tarde. Outra coisa, posso ter a certeza de que o Gama e o Ernesto são jornalistas da nossa confiança, não é verdade? Sim. Vou falar com os dois. Tenha o resto de um bom dia.
Amorim estava em brasa. Ligou para o tal Gama.
– Gama? Estou a telefonar por causa do seguinte. Há um camarada teu, um filho da puta que trabalha no teu jornal, que hoje publicou uma série de insinuações sobre a autoria do atentado contra o Professor Salazar. Vais procurar saber quem é o javardo. Claro que é mentira. O grupo do Alto do Pina confessou tudo. É uma investigação limpinha. Os outros? São agentes comunistas que estão embrulhados noutras explosões e quiseram prejudicar o nosso trabalho. Sim, podes escrever isto. E arranja-me o nome do cabrão que inventou a calúnia que hoje publicam.
Com o Ernesto o telefonema foi de igual teor, apenas terminou mais crispado.
– Não brinques comigo, Ernesto. Conheço muito bem as companhias com que anda o teu pai. Vê lá se o queres visitar na António Maria Cardoso. Publica o que te disse e deixa-te de merdas, estás a ouvir? O teu jornal já há muito que me fez perder a paciência. Estou pelos cabelos, Ernesto. Pelos cabelos!
Sabia que o criticavam por ser nazi. Nunca se importou. Era com orgulho que ostentava a cruz suástica. Na Alemanha, um caso destes seria resolvido de outra maneira. Não haveria nenhum dos terroristas que não tivesse sido encostado à parede e polvilhado de balas. Nem um dos grandes oficiais de Hitler permitiria esta afronta ao distinto Chanceler. Em Portugal até se chegava ao cúmulo de roubar o processo mais importante à polícia secreta do Regime. Um desaforo. Uma brandura que misturava piedade com política. A tolerância religiosa era um dos poucos aspetos que lhe desagradavam em Salazar. Ser católico não implicava tal concórdia com inimigos. Bastava seguir o exemplo de Goebbels, um dos maiores devotos da Igreja, que decidia com justiça os destinos dos afrontadores da Alemanha imperial.
Procurou controlar-se. Voltar a esconder o grande sonho que nunca repartiu com ninguém, pois poderia ser considerado traição à Pátria. Na verdade, Amorim era capaz de dar uma parte de si para viver e respirar o ambiente do nacional-socialismo que transformara a Alemanha no maior exemplo de grandeza mundial.
Corria ao cinema só para ver as notícias que passavam antes de ser exibido o filme da noite. Esbugalhava os olhos perante as enormes paradas militares. Um mar de estandartes, exibindo o orgulho de um povo inquebrantável, milhares de homens a marcharem a uma só voz. Hitler era um milagre. Pegara numa Pátria destroçada pela Grande Guerra, pela fúria de comunistas e de outros vermelhos, e reerguera-a das cinzas, ressuscitando a glória das águias imperiais.
Os discursos de Joseph Goebbels levavam-no às lágrimas. Os do Chanceler à fantástica dimensão divina de uma Nação abençoada por todos os deuses do planeta.
Em Portugal, era tudo em tamanho pequenino, pensava com tristeza. Nem a PVDE se podia comparar à Gestapo, nem nenhuma parada militar conseguia absorver o povo com aquele imenso entusiasmo apaixonado, militar, disciplinado, que percorria as ruas de Nuremberga ou de Berlim.
Apenas confessava aos seus botões o motivo das suas orações. Que Salazar, o patriota honrado que levantava com esforço Portugal, conseguisse dar o passo de gigante que a História lhe pedia. E seguir Adolfo Hitler, o mais extraordinário estadista que alguma vez a Humanidade conheceu.
* * *
Agostinho Lourenço empurrou a carta para a frente de Amorim.
– O juiz da PIC mandou-me a lista de funcionários da nossa casa que quer ouvir em declarações.
– O meu nome está na lista? – Perguntou, lendo a carta.
– Não consta. Veja quem é o primeiro nome da pessoa que ele pretende chamar.
– O Almeida Júnior! – Respondeu, levantando os olhos do ofício.
– Um dos súbditos de Baleizão do Passo. Esse tipo não pára de nos fazer guerra e sei que está por detrás das dúvidas que foram levantadas ao nosso trabalho.
– Posso fazê-lo desaparecer, se o Senhor Diretor-Geral assim o entender.
– Tanto, não. Dê-lhe um aquecimento. – Respondeu com um sorriso sinistro.
Saiu, contrariado. Era sempre assim. Recebia a ordem necessária, mas nunca a ordem justa. Com traidores não poderia haver lugar para condescendência. Almeida Júnior traíra, passando segredos ao inimigo, e merecia a morte. Seria assim entre os grandes patriotas nazis.
Decidiu que, embora em desacordo, cumpriria a ordem à sua maneira, humilhando o subordinado. Procurou pelas brigadas no período de maior movimento de pessoas e funcionários. Foi encontrá-lo no bar.
– Almeida! – Gritou em voz de comando.
Os presentes olharam, surpreendidos, e viram o Capitão levantá-lo bruscamente pela gola do casaco, enquanto berrava:
– Não mereces tomar café entre homens bons. Toca a andar, canalha!
Arrastou-o para fora do bar e foi lançando impropérios contra o Agente. O espalhafato que encenou não teve o efeito pretendido. Toda a casa conhecia os ímpetos militaristas de Amorim, muitos dos Agentes já tinham sido vítimas de espetáculos mais ou menos ardentes e um encolher de ombros respondeu ao tumulto do Capitão.
Empurrou-o para o seu gabinete e ordenou:
– Põe-te em sentido, ó palhaço. Estás em frente de um oficial!
– Posso saber o que é isto, Senhor Diretor? – Perguntou Almeida, ainda em choque.
– Tens andado a brincar com o fogo. Julgas que és esperto e não passas de um palhaço que abre a boca em todo o lado, julgando que tens graça.
– Posso falar? – Insistiu o Agente.
– Não, não podes! Tu deixaste de fazer parte desta família desde o dia que foste contar disparates ao Capitão Baleizão do Passo.
– Não contei nada que não se fale entre pessoas que se respeitam. Foi ele quem me trouxe da PSP para a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, quando aqui foi diretor. Fui-lhe leal enquanto esteve nesse cargo, tal como sou leal a todos os diretores no ativo. Ele é comandante da PSP, não é nenhum criminoso.
– Já desabafaste tudo?
– Não percebo porque me trata tão mal.
– Muito bem! Vais ser chamado para prestar declarações na Polícia de Investigação Criminal. Sairás daqui na condição de preso. E algemado!
– Preso?
– Conforme for o teu depoimento, assim se decidirá se continuas ou não detido.
– Preso? Vossa Excelência, ao menos, pode dizer-me qual foi o crime que cometi?
– Traição à Pátria! Quem trai esta casa, trai a Pátria!
– Vossa Excelência sabe que isso é falso.
A resposta foi uma estalada e a ira do Capitão cresceu.
– Não te atrevas! Um verdadeiro militar despreza a falsidade e odeia a traição.
– Senhor Capitão, com a vossa licença.
Amorim cortou-lhe a palavra.
– Acabou! Aguarda na tua secretária até nova ordem.
Abriu a porta e empurrou bruscamente Almeida Júnior.
A notícia correu célere entre o pessoal da polícia política. Se muitos desvalorizavam o ímpeto militarista de Amorim, alguns acreditaram que o jovem passara segredos de Estado.
Antero da Luz entrou na sala e sussurrou para Samuel Maneta:
– Julgo que vamos ter problemas.
– Porquê?
– O Capitão Amorim deu voz de prisão ao Almeida Júnior.
– A sério? O que fez o rapaz?
– Diz o Amorim que foi por traição à Pátria, mas a verdade é que a direção perdeu a confiança nele por ter falado do atentado com o nosso Capitão Baleizão do Passo.
Samuel procurou saber se havia mais alguém na sala e, assustado, retorquiu:
– Nós também falámos. Foi nosso chefe e somos amigos.
– É melhor estarmos atentos. O Almeida vai prestar declarações à PIC e vai algemado. Ou muito me engano ou começou o tempo da caça às bruxas entre nós.
O atentado estava a provocar danos nas relações entre os guerreiros que zelavam pela segurança do Estado e a desconfiança corroía como se fosse um ataque de ferrugem. A desorientação das chefias transmitia-se aos subordinados e o trabalho disciplinado e eficaz transformava-se numa desordem perigosa, com decisões contraditórias, que atingiam a própria corporação. Era o que acontecia naquele momento.
O Chefe Baltar cruzou-se com o Secretário-Geral no corredor que dava acesso ao arquivo.
– Se autorizar, vou dar instruções aos meus homens para que prendam o tal Raul Pimenta e o outro tipo conhecido pelo Fernando do Talho.
– Quem são esses? São tantos os nomes que, por vezes, me perco. – Disse Catela, desorientado com o pedido.
– Trata-se de amigos do Granja, logo fazem parte do seu bando. São, de certeza, os autores do assalto aos taxistas na Freixofeira e estão ligados às bombas que explodiram nos ministérios. – Um arroto cortou-lhe a voz e depois continuou: – O Raul Pimenta já esteve preso várias vezes por gatunagem. Assaltou galinheiros, furtou roupa nos estendais e fez outras coisas próprias de um tipo sem escrúpulos. Quanto ao Fernando do Talho, já passou por aqui quando pertencia ao Partido Comunista. Depois, desapareceu de circulação e, agora, voltou ao ativo pela mão do Granja, o motorista de carro de praça que diz ter posto a bomba na Barbosa du Bocage.
– Eles insistem nessa versão? – Perguntou Catela, cada vez mais inquieto.
– Um bando de rufias! Querem ser culpados à força.
– Dê fogo à peça, Chefe. Prendam esses rufias.
Noutro piso da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, Maia Mendes dava ordens, ignorando as decisões de Catela e Baltar:
– O Granja, durante o interrogatório, falou em dois amigos. O Fernando do Talho e o Raul Pimenta. Não os ligou ao crime. Todos vocês sabem como é. Comunista é amigo de comunistas, logo são todos suspeitos.
– Vamos prendê-los?
– Procurem-nos e tragam-nos para cá. Temos de fechar todos os caminhos que os tipos da PIC possam percorrer. Toca a trabalhar. Nem um traidor fica em liberdade. Não seremos enxovalhados por gente que faz de conta que é polícia.
Cruzavam-se instruções, inventavam-se suspeitos de tresmalho, de entre o povo obediente, e os Agentes saltavam da toca, prendendo a eito. Cumpriam a palavra de ordem que motivava a magnifica instituição que os acolhia:
Até prova em contrário, todos eram culpados!
* * *
Naquela manhã, Pereira dos Santos e Frederico apresentaram-se no gabinete de Alves Monteiro.
– Este é o Agente que lhe indiquei para ser secretário de Vossa Excelência durante a instrução do processo.
O juiz cumprimentou o funcionário cordialmente.
– Preparado para uma maratona de entrevistas?
– Às suas ordens, Senhor Diretor-Geral.
– Por onde começamos?
– Se Vossa Excelência me permite, gostaria de lhe dar um conselho. – Disse o Chefe.
– Sou todo ouvidos. Com um polícia experimentado como é o senhor, só tenho a ganhar com as suas sugestões.
– Confesso que me desinteressei do caso, quando o Capitão Agostinho Lourenço nos expulsou, sem qualquer delicadeza, da investigação. Sei como a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado retalia quando nos intrometemos no trabalho deles. Ou obrigam-nos a ser seus informadores, ou dão cabo das nossas carreiras. Como não tenho jeito para bufo e preciso de cuidar da minha família, fiz os possíveis por me esquecer do sucedido. No entanto, tenho na minha Brigada, um rapaz valoroso que se apaixonou por este mistério. Sei que nas horas vagas anda a cheirar aqui e ali. Chama-se Simão Rosmaninho. Não se lhe escapa nenhum jornal, tem uma intuição rara, e se Vossa Excelência o permitir, chamava-o aqui para expor o que lhe vai na cabeça.
– É assim tão persistente esse jovem detetive?
– Um poço de sabedoria. – Confirmou Frederico.
– Vossa Excelência conhece-o. Viu-o a trabalhar num crime ocorrido em Campolide. – Acrescentou o Chefe.
– Já sei quem é. Amigo do meu antigo motorista, o Agente Arengas. Pode chamá-lo.
Não demorou cinco minutos. Recordou-se imediatamente daquele rapaz alto, meio desengonçado e olhos profundos que vira desmontar um homicídio com raciocínios de uma profundeza lógica inatacável. Parecia estar perdido no gabinete, olhar esgazeado, cabelo puxado para o lado à força de brilhantina. Reparou que usava gravata preta.
– O seu Chefe pediu que o ouvisse antes de começar esta tarefa.
– Posso falar à vontade? – Perguntou ora olhando para o Chefe, ora para Alves Monteiro.
– Este lugar é uma sepultura de palavras. – Garantiu o juiz.
– A polícia política meteu os pés pelas mãos. Desataram a prender gente que suspeitam de ser comunista, em vez de procurarem autores de um crime. Foi o erro que os meteu no buraco onde se encontram. Afinal, acabaram por imputar a bomba a um grupo de pobres diabos que nem comunistas são.
– Parece que, até aqui, estamos mais ou menos de acordo. – Concordou Alves Monteiro.
– Se tivessem sido mais cuidadosos no exame ao local do crime, as perguntas que deveriam ter feito em primeiro lugar eram as seguintes: Qual dos criminosos é o que ficou ferido com gravidade no atentado? Em que hospital ou posto médico foi tratado? A tampa do esgoto donde ele acionou o explosivo saltou com tal violência que ficou um grande rasto de sangue. Quem o tratou? Como se chama ou diz chamar-se? – Respirou fundo e continuou: – Recolhi um pedaço de papel queimado entre os escombros provocados pelo estoiro da dinamite. Não quiseram saber. Porém, tem um código com números e letras gravados. Está incompleto, mas talvez seja possível identificar a qual lote pertence e onde foi entregue. Dez quilos de explosivos é obra. Ou vieram de pedreiras ou de minas.
– É quase impossível de encontrar quem vendeu ou deu os explosivos. São centenas de explorações. – Adiantou o Chefe com reservas.
– Concordo. Talvez a Fábrica da Pólvora consiga identificar o lote. Ou veio de pedreiras em volta de Lisboa ou de minas perto da fronteira.
– Porquê, junto à fronteira? Não é demasiado longe? – O juiz estranhou aquela disparidade.
– A guerra civil de Espanha. É conhecido o esforço da PVDE para expulsar espanhóis fugidos dos combates e que entram em Portugal. Embora não venha nas notícias dos jornais comuns, não é menos conhecida a solidariedade de opositores ao Regime que apoiam as tropas da República espanhola e dão abrigo a quem foge do horror. Basta ler jornais como A Batalha ou o Avante para se compreender quão profunda é a solidariedade de anarquistas e comunistas com os republicanos espanhóis e com os mártires da guerra.
– Pois. É uma hipótese. Não leio esses jornais, mas admito que seja assim.
Simão estava embalado e nem ouviu o comentário do juiz. Nem conseguia esconder o entusiasmo, pois estremecia de prazer só de imaginar que aquele caso pudesse ter sido seu.
– Os explosivos foram colocados numa garrafa de gás industrial. Portanto, há um serralheiro metido na preparação. Foi preciso cortar o gargalo para introduzir os cartuchos e ainda alguém que seja eletricista, ou saiba de circuitos elétricos, para armar a bomba, colocando o detonador à distância. O disparo foi realizado a cerca de trinta metros do local da explosão.
– Muito bem. É tudo?
– Só mais uma achega, Senhor Diretor-Geral. Dentro do esgoto foi encontrado um tubo que deve ter servido para alçar o engenho explosivo. Embora já tenha passado bastante tempo, talvez ainda se encontrem impressões digitais.
– A Polícia de Vigilância e Defesa do Estado guardou esse tubo?
– Não. Guardei-o eu. Está por detrás do armário da nossa Brigada. Encontrei-o passadas algumas semanas, quando dei uma volta pelo local e estavam a desentulhar o esgoto para o reconstruir.
– Ó homem, devia ter enviado isso para a polícia política. – Censurou Pereira dos Santos, surpreso com as descobertas de Simão.
– Já não valia a pena, Chefe. Quando o encontrei, as notícias de que haviam sido presos os autores do atentado enchiam as páginas dos jornais. Era claro que a PVDE estava confortada com o resultado do seu trabalho. – Continuou a dissertar sem rodeios. – Creio, por outro lado, que os homens que se entregaram à Polícia de Vigilância e Defesa do Estado podem estar comprometidos com o crime.
– Problemas de consciência e arrependimento. – Adiantou Alves Monteiro.
– Mais do que isso, Senhor Doutor Juiz. Quem cometeu o atentado é gente de fracas posses. Alguém terá financiado a compra dos explosivos, mas a ação foi realizada por homens que não têm dinheiro para comprar um automóvel.
– Não estou a perceber. – Observou o juiz.
– Precisaram de uma viatura para carregar os explosivos e para transportar a bomba. Um veículo que não desse nas vistas. Ora um carro de praça é uma coisa banal. Não levanta suspeitas, o que permite maior facilidade de movimentos. Por outro lado, a entrega voluntária dos dois motoristas também é um indício a ter em conta.
Alves Monteiro estava encantado com aquele prodígio e não abriu a boca, desfrutando o raciocínio do rapaz. Apenas tomava apontamentos.
– Nem o Partido Comunista, nem a Frente Popular dariam indicações para que algum dos seus responsáveis se entregasse à polícia política. Protegem os militantes, furtam-se à identificação, criando nomes simbólicos para se conhecerem, passam para a clandestinidade. É um disparate pensar que os dois arrependidos são de qualquer organização política. Jamais lhes pediriam esse sacrifício.
– Está a dizer que o Partido Comunista não está por detrás desta ação criminosa.
– Sem dúvidas, Senhor Doutor Juiz. Serão homens revoltados, que detestam o Regime, que odeiam o Professor Oliveira Salazar, mas sem controlo político de qualquer organização oposicionista. Apostaria nos motoristas de táxi.
Fez-se silêncio na sala. O Diretor-Geral relia os apontamentos que recolhera da longa dissertação de Simão Rosmaninho. Afagou o queixo, pensativo, e interpelou o Chefe.
– O que me diz sobre o que acabámos de ouvir?
– Sem descartar as soluções apresentadas pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, julgo que devíamos explorar as hipóteses avançadas pelo Simão.
– Vamos ser hábeis para não ferir os egos de algumas pessoas. É necessário que a astúcia seja o motor do nosso trabalho.
– Não tenho dúvidas, Senhor Diretor-Geral. – Concordou Pereira dos Santos.
– Então, vamos fazer assim. Vou começar as entrevistas aos funcionários da António Maria Cardoso como se cumprisse o guião que eles esperam. Entretanto, o Chefe organiza discretamente as diligências paralelas para que sejam explorados os caminhos que foram aqui levantados pelo Agente Simão.
– Pode Vossa Excelência ficar descansado que vou tratar imediatamente disso. – Garantiu o Chefe.
No gabinete ficaram apenas Alves Monteiro e Frederico.
– O seu colega é brilhante. – Comentou o juiz.
– Nasceu para isto, Senhor Diretor-Geral. Lê tudo, estuda desesperadamente. Desde que enviuvou, a investigação criminal tornou-se num sacerdócio.
– Reparei que tinha uma gravata preta, mas não imaginei que tão jovem já fosse viúvo.
– Uma tragédia, Senhor Diretor-Geral. O casamento não durou um ano. A tuberculose levou-lhe a esposa em meia dúzia de meses.
– É um fado triste. Não há meio de se inventar a cura para a maldita doença. – Mudou de assunto, olhando para um papel. – Vamos começar por ouvir o Agente Almeida Júnior. Deve estar a chegar. Tenho curiosidade em saber aquilo que nos vão vender. – Concluiu com sarcasmo.
Na Brigada, o Chefe dava indicações.
– Devemos compartimentar as diligências para as tornar mais rápidas. Cada um cumpre a sua tarefa e não se distrai com o trabalho dos outros. O Simão vai tentar saber por onde andou o lote de dinamite usado na explosão. O Eurico trata de pedir ajuda para perceber se existem impressões digitais no tubo que estava no esgoto. Eu próprio irei aos hospitais e aos postos médicos à procura de quem tenha sido atendido, por ferimentos, no dia da explosão.
– Deixe os taxistas por minha conta. Eu uso a linguagem deles e posso ter uma pista. O Tibornas falou-me dum tal Espeto de Pau. Nada é de confiança, mas vou atacá-lo outra vez. Talvez me dê o poiso desse motorista – Interrompeu-o Arengas.
– Muito bem. Vamos ao trabalho, meus senhores. Se alguém perguntar, andamos à procura de uma quadrilha de assaltantes que roubaram ourivesarias. Nem uma palavra sobre o que estamos a fazer.
– Acho graça a isto. É um filme ao contrário. Nós a descascarmos a polícia política, quando a regra é eles a descascarem quem lhes dá na gana. – Brincou o Eurico.
O Chefe alertou-os.
– Chegará a hora em que nos vão cercar. Quanto mais depressa trabalharmos, menores são as hipóteses de eles nos controlarem.
Simão reconheceu que estavam numa luta entre cães e gatos. A urgência de Pereira dos Santos fazia todo o sentido. Para que houvesse investigação criminal séria, era necessário que a liberdade não tivesse limites. Perguntar sem medo. Pesquisar sem censura, confiando nos resultados que a ciência poderia fornecer. Sem fronteiras e sem mordaças que impusessem caminhos forçados. Não duvidava de que a prudência do Chefe seria a melhor das armas para chegar à verdade, além da rapidez em descobrir antes de serem descobertos.
No momento em que o Chefe Pereira dos Santos se preparava para sair do Torel, reparou em Gonçalves, que chegava, acompanhando Almeida Júnior. Afastou-se deliberadamente para não o cumprimentar e, desta forma, evitar qualquer conversa. Os dois homens dirigiam-se ao gabinete do Diretor-Geral, cumprindo o papel que este lhes entregara na encenação que havia montado. Contudo, o guião começou por descarrilar ao primeiro embate.
Alves Monteiro observou-os, surpreendido.
– Por que razão está esse funcionário algemado?
– Saiba Vossa Excelência que está detido à ordem da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado.
– Tire-lhe as algemas imediatamente! – Ordenou com firmeza.
– Receio que não possa cumprir essa ordem. O preso está à minha guarda.
– Vamos esclarecer isto de uma vez. Sou juiz e estou incumbido de uma investigação que me foi entregue pelo Governo. Ou retira imediatamente as algemas ao Agente Almeida Júnior, ou eu mando-o prender e é o senhor quem sai do meu gabinete com elas nos pulsos.
– Há aqui um engano. Estou apenas cumprir ordens. – Respondeu, teimoso, o homem da PVDE.
– E neste momento está a cometer um crime de desobediência.
– O senhor não está a perceber. – Gonçalves tentou resistir.
– O senhor Agente é que não percebe. Não entrevisto nem interrogo pessoas algemadas. À frente de um juiz todos os homens são livres, mesmo os piores assassinos. Respondem ou não respondem às minhas perguntas. Dirão aquilo que entenderem e não serão forçados a dizer o que o juiz quer. Está a compreender agora?
– Isso não me diz respeito. Quando tenho um preso à minha guarda, nunca o posso largar. – Respondeu com insolência.
Alves Monteiro desistiu da conversa. Voltou-se para Frederico e pediu:
– Chame os seus colegas para virem prender este homem.
O Agente dirigiu-se ao telefone e Gonçalves estrebuchou com evidente nervosismo.
– Espere. Posso fazer um telefonema aos meus superiores?
– Fará os telefonemas que quiser depois de cumprir a minha ordem. Liberta esse homem ou quer ficar preso?
Contrariado, retirou as algemas a Almeida Júnior, que, em silêncio, assistia ao confronto entre o seu colega e o juiz. Na verdade, era bem mais do que a disputa entre dois homens. Tornara-se num desafio de força no que respeitava à autoridade da polícia política e do juiz, Golias e David frente a frente. O duelo continuou.
– Ele fica com as mãos livres, mas eu não saio de perto dele.
– Sai, sim!
– Se não cumprir as ordens que me foram dadas, vejo-me na obrigação de participar do senhor aos meus superiores hierárquicos.
– Fará como entender. Às minhas diligências de instrução está presente quem eu decidir. Saia do meu gabinete, se faz favor.
A firmeza de David impunha-se ao gigantesco Golias. Vencido, abandonou a luta, batendo a porta com violência.
Mal se sentaram, Alves Monteiro interpelou o Agente da PVDE.
– Posso saber o motivo da sua detenção pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado?
– Segundo me informaram, é uma situação provisória. Dizem que é por traição à Pátria, embora eu desconfie de que seja para condicionar o meu depoimento perante Vossa Excelência.
– Sabe a razão para o ter chamado?
– Por causa da investigação ao atentado à bomba contra o Senhor Professor Oliveira Salazar.
– Percebo que não estará à vontade para responder às minhas perguntas. No entanto, só quero saber aquilo que o senhor Agente me pode dizer e não o que imagina que gostaria que me respondesse. Compreendeu?
– Estou à sua disposição, Senhor Doutor Juiz. Não sou nenhum anjinho que trabalha na casa das trevas. Eu participei em espancamentos, em atos de tortura, fiz tudo aquilo que é necessário para defender o Estado Novo.
– E quanto ao atentado? O que me pode dizer?
– Foi tudo feito à pressa. A vocação da minha Polícia é perseguir inimigos da Pátria e, agora, a moda é caçar comunistas. A direção decidiu que foram eles que tentariam matar o Senhor Presidente do Conselho.
– Porquê o Partido Comunista?
– Porque é essa a orientação da política a seguir. É o maior inimigo de Portugal, uma infiltração dos soviéticos para poderem estabelecer uma República vermelha. Se a política diz que é assim, nós somos a Polícia que a serve.
– Acredita que o Partido Comunista será essa tal invasão disfarçada feita pela Rússia?
– Acredito.
– Mas não acredita que o grupo do Alto do Pina seja um bando do Partido Comunista.
– Nenhum deles sabia como as coisas aconteceram. Só um lê e escreve. Não sabem manipular explosivos, não têm dinheiro. O que lhes resta do salário vai para copos de vinho. O primeiro interrogatório que fizemos foi ao António Silva, perdido de bêbado, e tornou-se patético. Não sabia onde estava e nem o que dizia. Éramos nós quem lhe punha as palavras na boca.
Alves Monteiro deu indicações a Frederico para começar a dactilografar. Observou o Agente enquanto o seu secretário reproduzia as declarações. Era ainda jovem, talvez andasse pelos trinta anos.
– Senhor Agente, interrogou ou espancou algum dos homens detidos no Alto do Pina?
– Esses não. Assisti aos interrogatórios de vários e à tortura do José Horta. É meu hábito carregar um pouco nos presos quando tenho a certeza de que estão a mentir. Não era o caso. A aflição de qualquer deles era espontânea, assim como os protestos de inocência.
– É hábito espancar presos?
Talvez fosse a distância da pergunta, sem apoio ou censura velada, quase impessoal, que perturbou Almeida Júnior.
– Às vezes. – Titubeou. O juiz percebeu a agitação e manteve-se calado. – Quase sempre! – Acabou o Agente por dizer.
Para espanto dos presentes, desatou a soluçar. Um choro convulsivo, descontrolado, que procurou esconder nas mãos abertas contra o rosto.
– Eu vi matar um preso a pontapé. Ali, à minha frente, e não fiz nada. Já estava morto e continuavam a dar-lhe pontapés. Fiquei quieto. Que raio de monstro me habita para ficar inerte perante tanta brutalidade? O que há de tão ruim dentro de mim? Cada vez que me deito, vejo os olhos dele. Parados, sem luz, cravados em mim.
– O que fizeram ao cadáver?
– Esconderam-no. Quando chegou a noite, levaram-no para a Rua da Junqueira e deram-lhe dois tiros. Informaram os jornais que dispararam sobre um preso que tentou fugir. E eu calei-me. Calei-me sempre.
Levou algum tempo a recuperar da convulsão. Raiva e remorso que não conseguia esconder. Alves Monteiro decidiu mudar o curso da conversa.
– Na sua opinião, qual é a responsabilidade dos motoristas de carros de praça que se foram entregar na vossa Polícia?
– Não sei, Senhor Doutor Juiz. Fui proibido por um dos meus chefes de assistir a interrogatórios deste caso.
– Proibido, porquê?
– Como vê pela situação em que me encontro, porque acham que traí a Pátria.
– Tem consciência de que o depoimento que está a prestar pode prejudicar a sua carreira na Polícia de Vigilância e Defesa do Estado.
– A minha carreira terminou quando transformaram uma conversa que tive com um comandante da PSP nesta invenção. – Surgiu um sorriso triste no rosto do rapaz quando rematou com ironia: – Naquela casa somos pródigos em invenções.
– Esse comandante da PSP está no ativo ou é reformado?
– No ativo. É o Capitão Baleizão do Passo. Foi meu comandante na PSP e meu Diretor quando ingressei na Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Um homem íntegro. Talvez o único militar decente que encontrei na minha carreira.
Frederico recomeçou a dactilografar.
* * *
Arengas esperou que abrandasse o movimento de clientes na hora de almoço. Sabia que não teria muito tempo para a conversa com Tibornas e necessitava de muita habilidade para a conduzir a fim de não levantar suspeitas no coscuvilheiro. Garatujou umas palavras num pedaço de papel e quando chegou a hora de pagar, perguntou:
– Tens muitos clientes que sejam taxistas?
– Porquê? Anda moiro na costa? Vêm aqui dois ou três. – Respondeu, desconfiado.
O detetive puxou do papel, olhou para aquilo que tinha escrito, e falou:
– Não sei se são nomes próprios ou se são alcunhas. Conheces um tal Passa a Ferro?
Pensou durante alguns momentos, como se procurasse na galeria das memórias, e acabou a menear a cabeça.
– Não. Não conheço esse tipo.
– Tens a certeza? Não me mintas. – Provocou o Arengas.
– Estou a querer a ajudar-te e tu chamas-me mentiroso? – Refilou, de pé atrás.
– Não te zangues. Quem diz a verdade não merece castigo. Vá lá. Não precisas de amuar. No final, ofereço-te um brinde.
Tornou a olhar para o papel e desatou a rir.
– Este tem um nome engraçado. Deve ser alcunha. Isto é uma pomada para mulheres.
– O quê? – A curiosidade de Tibornas espevitou.
– O Zé Pomada Benamor. Conheces?
O taberneiro não conteve o riso e criticou, entusiasmado:
– Esse gajo deve ser amaricado. C’um catano! Com esse nome só pode ser. Nunca ouvi falar em tal sujeito. Posso saber qual é o brinde que tens para mim?
– No fim da conversa, conto. Só no fim. Isto também deve ser alcunha, mas não sei mais nada dele. Um motorista a quem chamam Espeto de Pau?
A expressão de Tibornas alterou-se.
– Esse conheço. Costuma vir aqui quando faz praça perto do hospital, à hora das visitas aos doentes. Já te falei nele uma vez, mas não me ligaste porra nenhuma. És do cacete, pá!
– Falaste? Não me lembro. – Declarou Arengas com a maior das ingenuidades.
Tibornas debruçou-se sobre o balcão, baixou a voz e, quase em segredo, recordou a conversa.
– Este é o taxista que me disse que os tipos que fizeram o atentado andavam por aí em grandes vidas, enquanto os outros gemiam na prisão. Não te lembras?
– Não. Não devo ter ligado à conversa. – Respondeu com displicência.
– É por isso que vocês não valem nada como Polícia. Não ligam a nada. Não querem saber. Olha lá em cima os gajos da António Maria Cardoso. Embrulharam os vermelhos do atentado contra o Botas e agora estão a empalhar os artistas que puseram as bombas nos ministérios.
– Da última vez que falámos, não me disseste que eles se tinham enganado?
– Conversas de mexeriqueiros. Cada vez que a polícia política dá uma bordoada nos manhosos do reviralho, começa um corrupio de intrigalhadas. São mais mentirosos do que eu, c’um cacete! Os tipos da PVDE são verdadeiras máquinas, pá!
– Pronto, está bem. Sabes onde posso encontrar o Espeto de Pau? – Perguntou Arengas sem grande interesse.
Tibornas voltou à desconfiança:
– Porquê? Queres fazer mal ao homem?
– Pelo contrário. É para o ajudar.
O taberneiro percorria a curiosidade, a fanfarronada, o convencimento e a dúvida quase de minuto em minuto.
– Então?
– Esse é o brinde que te prometi, se me ajudares a encontrá-lo.
– Eh, pá! Que eu saiba, faz praça aqui em São José e pára muito na Estefânia. Acho que, por causa de uma conversa que fez, também frequenta a praça do Rossio.
– Como é a figura dele?
– Igual ao nome. O Espeto de Pau é um verdadeiro espeto, magro como o cacete. E alto. Muito alto e usa um bigode à Afonso Costa. O bigode é a única coisa farta naquele corpinho espinafrado. Um bigode do cacete! – Riu da descrição que fez do taxista e exigiu: – Agora quero o brinde. O que se passa com esses tipos?
Arengas mostrou-se hesitante, embaraçado.
– Uma coisa grave. – Disse solenemente.
Tibornas ficou em alerta geral.
– Não me digas que atentaram outra vez contra o homem de Santa Comba Dão.
– É pior.
– Pior? C’um catano! – Tibornas não aguentou mais e saiu detrás do balcão para ir ao encontro de Arengas.
– O que te vou contar tem de ficar entre nós. – Pediu Arengas com voz de velório.
– A minha boca é um túmulo! – Declarou Tibornas, vermelho de solenidade.
Arengas não conseguiu evitar uma gargalhada, mas rapidamente retomou o ar grave que o caso merecia.
– A tua boca é um esgoto. Bom, seja como for, preciso da tua ajuda. Tenho de encontrar estes homens. Estão em perigo. Prendemos um assaltante de ourivesarias. Ele tinha esta lista no bolso e sabemos que o resto da quadrilha anda à solta. Como é que eles atuam? Atacam motoristas de carros de praça, dão-lhes um tiro nos miolos, pegam nas viaturas e fazem os roubos. Fizeram dois e foram para o caneco dois taxistas.
– C’um catano!
– Preciso de falar com estes homens antes que lhes façam mal.
Tibornas respirou fundo. Era história pesada de mais para os bandidos de fantasia que ele conhecia ligados aos contos-do-vigário. Não havia treta de paleio. Usavam armas e matavam. Abriu-se como um girassol aos raios de luz.
– Sendo assim, vou ser sincero. O Espeto de Pau esteve aqui antes de tu chegares. Se não está a transportar algum cliente, encontras o homem na praça à entrada do hospital. Não podes deixar que lhe façam mal. É um pobre diabo com um bigode farfalhudo. Nada mais.
– Obrigado, Tibornas. Se eu não o encontrar e ele vier aqui, diz-lhe que vá falar comigo ao Torel. E, por favor, é secreto aquilo que te contei.
Ficou a observar o detetive a afastar-se na direção de São José. Ficara preocupado com o segredo que o amigo lhe confiara e em cuidados com a vida do Espeto de Pau. Um cliente que chegava viu-o em pose tão dramática que questionou antes de entrar na taberna.
– Você está com um ar... Aconteceu alguma coisa?
Despertou em sobressalto.
– Não. Não é nada. São alguns problemas. Segredos que um homem tem de guardar. Por acaso, não é dono de uma ourivesaria, pois não?
– Nem um anel de ouro, quanto mais uma loja dessas. – Riu o outro.
– Então está safo. Não se preocupe. Vai um tinto?
– Um tinto.
* * *
Catela ficou furioso com as explicações do Agente Gonçalves.
– Era tua obrigação assistires ao interrogatório do Almeida Júnior. Foi a razão da sua prisão. Sabermos o que ia dizer.
– O juiz não deixou.
– Ele é funcionário do Estado. É um vulgar servidor que faz aquilo que a gente manda e não aquilo que ele quer.
– Concordo com o Senhor Diretor. Sempre tratei os juízes abaixo de cão quando vêm embirrar por causa do nosso trabalho. Mas este bandalho dirige a PIC, está cercado por polícias e disse-me que ou eu tirava as algemas ao Almeida, ou prendia-me.
– Que filho da puta! Mas que grande filho da puta!
Saiu disparado para contar a Agostinho Lourenço o atrevimento de Alves Monteiro, mas a notícia foi recebida com aparente tranquilidade e um sorriso.
– Não se preocupe em demasia, meu caro Catela. Ele está a jogar damas, nós estamos a jogar xadrez.
O Secretário-Geral ficou expetante, sem compreender o alcance da afirmação. Notava que o seu chefe estava diferente, recuperara a calma habitual, bem longe do momento de fúria que manifestara após a retirada do processo à PVDE.
– O Estado que estamos a construir, ao contrário daquilo que se lê e se ouve, está assente nesta organização. Ninguém percebe. Muito menos esse juiz, que, candidamente, acredita nas virtudes do poder judicial. Não é assim!
Catela não se conteve perante a continuação do monólogo enigmático.
– Não estou a perceber o que quer dizer, Senhor Diretor-Geral.
– É claro como a água, meu caro. A estratégia política sai da cabeça do Doutor Salazar. Os militares são a principal ferramenta para que o discurso tenha efeitos na renovação do País.
– Os militares? – Perguntou com reserva, e adiantou: – Sua Excelência foi obrigado a assumir a pasta da Guerra e do Exército para controlar os oficiais. O nosso comum amigo Santos Costa tem trabalhado dia e noite para trazer à ordem o rebanho com saudades do tempo em que andava tresmalhado.
– Tem razão, mas abra mais o olhar. São militares que comandam esta Polícia. São militares que estão na chefia da GNR e da PSP. São militares que comandam a Guarda Fiscal, a Legião e a Mocidade Portuguesa. São militares que lideram a Censura. Como vê, o aparelho repressivo e garante do Regime está nas nossas mãos e assim vai continuar. – Concluiu com satisfação: – Deixe o juiz pensar que está num Estado de Direito. É para isso que os nossos diplomatas e propagandistas trabalham todos os dias. Aliás, está explícito na nossa Constituição. Deixe os oposicionistas vomitarem denúncias contra as Polícias. Tudo faz parte do enredo desta gigantesca peça teatral. O poder, meu caro, é de Sua Excelência porque soube escolher quem o pode ajudar. Como é o nosso caso.
– Nunca tinha pensado dessa maneira. – Concordou Catela.
– Salazar é só inteligência com uma alma imaculada. Nós somos os braços e as mãos que limpam a casa. Que o pacóvio do juiz não lhe tire o sono. As contas fazem-se no fim. – Mudando de tema, questionou o subordinado: – Têm trabalhado os presos?
– O Mateus Júnior não os larga. – Respondeu Catela.
– Os homens que carreguem no acelerador. Esta confusão que os ministros armaram não pode beliscar os nossos objetivos. A nossa missão é clara. Defender o Estado Novo custe o que custar. Nunca se esqueça deste aviso. Somos nós quem decide o que é importante ou não. Não é um juiz qualquer que vai decidir por nós. – Levou o copo de água à boca para molhar os lábios. – Diga ao Maia Mendes que venha falar comigo. O nosso Capitão anda muito desleixado desde que não lhe entreguei o caso do atentado.
O Capitão Catela ficou mais sereno depois de ouvir o Chefe. Admitia uma verdade que é dura de assimilar por qualquer pessoa. Agostinho Lourenço encontrava-se num jogo complexo de poder que ultrapassava largamente os horizontes que os seus oficiais conheciam. Sendo um homem reservado, incapaz de um momento de galhofa, autoritário, mas atento a todos os sinais da organização, não deixava que ninguém entrasse no território das informações sensíveis que geria como ninguém. O Chefe da PVDE cultivou a amizade com o General Sanjurjo, o mais destacado conspirador para o derrube da República espanhola, com quem teve reuniões infinitas no Estoril, ajudando na preparação do alziamento. A trágica morte do militar, na queda do avião que o levaria a Espanha, abriu-lhe a porta para se tornar íntimo do General Franco. Garantiu-lhe, por ordens de Salazar, que Portugal se transformaria na grande base de apoio para o esforço de guerra.
A sua influência ultrapassava os limites das Ditaduras, como fora o caso da captura de Emídio Santana. Catela testemunhou o telefonema para Londres. Do outro lado da linha, pelo modo como falava Agostinho, estava um amigo. Alguém que se irmanava com o chefe de uma Polícia que protegia a Ditadura. Não demorou cinco minutos. Quando desligou o telefone, informou-o:
– Esse anarquista de que me falam será detido quando chegar a Southampton e recambiado para Portugal. Não se preocupem.
Reconhecia sem qualquer reserva que, embora tivessem a mesma patente militar, estavam nas mãos de um verdadeiro líder!
Quando entrou o Capitão Maia Mendes, a sua expressão endureceu e disparou, ameaçador:
– Não faças de mim parvo, Maia Mendes.
– Ó Senhor Diretor-Geral... – Cambaleou de surpresa com a receção.
– Desde que assumi o caso do atentado, ficaste de beicinho. Meninos birrentos não se dão comigo. – Ralhou, ameaçador, Agostinho Lourenço.
– É certo que fiquei magoado, mas eu e as minhas brigadas continuamos a trabalhar com afinco. O brio militar não se apaga com uma mágoa. – Respondeu, já recomposto daquele primeiro embate.
– Não brinques em serviço. Comigo isso não dá.
– Não sei o que lhe contam a meu respeito, quais as intrigas que inventam, mas seria incapaz de desleixar o serviço porque o Senhor Diretor-Geral me retirou essa responsabilidade e o resultado começa a estar à vista.
– Qual resultado?
– Há algumas semanas que temos vindo a prender os responsáveis pelo Comité Regional de Lisboa do Partido Comunista. Desfizemos o Comité Local e agora tratamos destes. Se tudo correr bem, não vai restar pedra sobre pedra na organização do Partido em toda a região de Lisboa.
O Diretor-Geral suavizou o tom ao ouvir o seu Diretor da Divisão Política e Social.
– Estás a falar a sério?
– Falta-nos apenas uma morada. Temos dois informadores a trabalharem connosco à procura da casa e, ainda esta noite ou amanhã de manhã, vamos varrer o que resta destes bandidos.
– Muito bem, Maia Mendes. Muito bem!
– Esta semana também prendemos três católicos, estudantes universitários, que distribuíam propaganda contra a guerra civil em Espanha e em favor da paz republicana.
– Católicos? Como é possível? – Inquiriu Agostinho Lourenço com manifesta surpresa.
– Foi assim que se apresentaram.
– Quem diria?!
– Durante uns tempos não incomodam ninguém. Se quiserem pregar a paz, fazem a lamúria na cela. São uns ordinários. Nem os seus bispos respeitam.
Regressava a serenidade ao diálogo entre os dois homens.
– Já sabem quem são os homens da PIC que estão a ajudar o juiz Alves Monteiro? – Perguntou Agostinho Lourenço.
– Um deles chama-se Frederico. É um Agente da Brigada do Pereira dos Santos.
– O chico-esperto do Torel! – Comentou, pensativo.
– Conheço-o mal, mas dizem que é bom polícia. – Opinou Maia Mendes.
– Um habilidoso. Faz umas coisas interessantes contra ladrões, dá-se bem com toda a gente, mas desvia-se de qualquer colaboração connosco como uma enguia que se escapa das nossas mãos. Esperto de mais para o meu gosto. É preciso andar de olho nele.
– Tenho um homem a trabalhar sobre ele e o tal Frederico.
– Não se fiquem por aí. Se conheço bem os seus métodos, vai envolver toda a Brigada na investigação. Saibam quem é cada um deles, ponham os nossos informadores da Polícia de Investigação Criminal com o ouvido atento.
– Ontem jantei com dois. Um deles é amigo do Pereira dos Santos, mas, até agora, não ouviram nada de especial.
Calou-se por instantes, retirou do casaco um papel timbrado e entregou-o ao Diretor-Geral.
– Já agora quero informá-lo de que fui intimado pelo juiz Alves Monteiro para prestar declarações no Torel.
– Eu sei. O teu nome vinha na lista. Posso saber aquilo que vais dizer? – Perguntou, olhando-o de forma penetrante.
– Não vou mentir. Direi a verdade possível sem trair esta instituição que sirvo com orgulho.
Agostinho Lourenço devolveu-lhe a notificação.
– És um bom homem, Maia Mendes. Acredita que tens a minha confiança. Dá-me notícias quando prenderem os comunistas que estão a procurar.
Quando o subordinado saiu, acendeu um cigarro e fixou o olhar na fotografia de Salazar. Um sorriso misterioso bailava-lhe no rosto.
* * *
Alves Monteiro olhou para Maia Mendes e depois para Frederico, que estava sentado em frente à máquina de dactilografar, como se lhe perguntasse se estava pronto para escutar o ditado. O Agente acenou afirmativamente.
– A investigação do atentado deveria estar a cargo dos serviços que o Senhor Capitão dirige. Houve alguma razão especial para lhe ser retirada?
– Não nos foi retirada pela simples razão que nunca nos foi distribuída. O Senhor Diretor-Geral entendeu de outro modo.
– Tem alguma justificação para essa decisão?
– Estamos sobrecarregados de trabalho. Neste momento, tenho duas brigadas que trabalham continuamente há mais de trinta horas.
– Qual é a sua opinião sobre a autoria do crime?
– Não tenho opinião Senhor Doutor Juiz. Não conheço o processo.
– Existem alegações de que os detidos no Alto do Pina foram forçados a confessar através da tortura.
A resposta foi rija.
– É impossível: Na Polícia de Vigilância e Defesa do Estado cumpre-se a lei e nada vai para além da lei!
– Não se esqueça de que é oficial das Forças Armadas e está duplamente comprometido com a verdade.
– A minha verdade é esta: servir a minha Pátria, servindo Salazar. – Declarou com firmeza.
– O que me aconselha? Devo interrogar, em primeiro lugar, os presos do grupo do Alto do Pina ou aqueles que fizeram os atentados contra os ministérios e se assumem como culpados?
– A célula do Alto do Pina. Talvez vos contem aquilo que não nos quiseram contar. Posso sair?
– Faça favor. Obrigado pela sua gentileza, Senhor Capitão. Ajudou-nos bastante.
Saiu.
Alves Monteiro virou-se para Frederico.
– O que me diz a isto?
– O tipo sabe de tudo, está lixado por não lhe darem o caso, mas é de uma fidelidade canina a Agostinho Lourenço.
– É verdade. Um oficial disciplinado. Vamos começar por ouvir os motoristas de praça e os anarquistas.
Frederico não percebeu.
– Os motoristas? O capitão sugeriu que começássemos pelos outros.
– Exatamente por isso.
O juiz levantou-se.
– Antes de continuarmos, quero falar com o seu Chefe, para saber se existem resultados das diligências que estão a fazer. Diga ao Silveira para vir aqui. Importa-se de sair por meia hora?
– Com certeza, Senhor Diretor-Geral.
O Agente saiu e Alves Monteiro levou a mão ao bolso. Fez uma expressão de contrariado quando descobriu que não tinha cigarros. Nesse mesmo instante, entrava o contínuo.
– Ainda bem que chegou. – Entregou-lhe umas moedas e solicitou: – Peço-lhe o favor de me ir comprar três maços de Herminios. Vem trazer-mos e a seguir vai pedir ao Chefe Pereira dos Santos que venha falar comigo.
Precisava de controlar o vício. A mulher e os filhos estavam sempre a chamar-lhe a atenção. Devorava quatro maços por dia. Já perdera o tino à quantidade de vezes que se levantara, punha os pés no chão e ordenava a si próprio:
– Hoje não fumas!
A abstinência mais prolongada demorou duas horas. Perdia a orientação, não sabia o que fazer com as mãos, desconcentrava-se, a ansiedade doía no peito, o humor alterava-se. Por fim, desistia. O primeiro cigarro sabia a mel. O corpo descomprimia e a atenção regressava. Não demorava cinco minutos para tornar a fumar. Que prazer! A mera evidência que não tinha o maço de tabaco por perto, como era naquele momento, debilitava-lhe o espírito. Era uma espécie de orfandade e tornava urgente cada minuto até que pudesse acender o próximo.
Silveira foi rápido. Entregou-lhe a encomenda e foi chamar o Chefe. Com pressa nervosa, abriu um maço, sacou um cigarro e dirigiu-se à janela, espreitando Lisboa, a saborear com desmesurado prazer o regresso daquele fiel companheiro.
Nem deu pelo tempo. Acendia o seguinte quando Silveira abriu passagem a Pereira dos Santos. Saudou-o cordialmente e, ainda não recomposto, perguntou-lhe:
– O Chefe fuma?
– Meio maço por dia, mais ou menos. Devo dizer que já reparei que Vossa Excelência lhe chega com entusiasmo.
– Não me diga nada. Dizimo-os. Sem tabaco no bolso, transformo-me num vegetal. Que raio de vício! Enfim, não foi para lhe confessar os meus pecadilhos que quero falar consigo. Há novidades?
– Acabei, agora mesmo, uma reunião com os meus homens. Tenho boas e más notícias.
Alves Monteiro sentou-se e indicou-lhe uma cadeira.
– Comecemos pelas boas.
– Conseguimos saber onde foi comprado o explosivo. O lote teve como destino a Mina de São Domingos, que fica entre Serpa e Mértola, no Baixo Alentejo.
– Nunca fui para essa zona, mas sei onde é. Quando o trabalho me permite, corro para o Fundão para desfrutar a minha terra.
Pereira dos Santos sorriu e verificou um bloco de apontamentos que trazia consigo.
– No dia do atentado, meia hora depois, um indivíduo chamado Raul Pimenta foi tratado, no Posto Médico de Alcântara, a um ferimento num joelho que lhe ia arrancando a rótula.
– Pode ser um dos nossos homens. – Comentou o juiz.
– Quase de certeza. É serralheiro, pessoa capaz de preparar a garrafa de gás para montar a bomba. Por outro lado, um motorista de carro de praça, um tal Espeto de Pau, contou a um dos meus homens, em traço grosso, o que conhecia do caso. Pelo menos, três dos seus colegas estavam envolvidos na tramoia. – Tornou a olhar para o bloco. – Foram o Granja, o Francisco Damião, mais conhecido por Chico Saloio, e o Arrinca.
O Diretor-Geral franziu a testa, desconfiado.
– Esse Perna de Pau ou Espeto de Pau denunciou os colegas sem mais nem menos?
– Aqui começam as más notícias.
– Então?
– Estão os três detidos às ordens da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Dois deles, o Chico Saloio e o Arrinca, foram entregar-se voluntariamente e, segundo o taxista julga saber, têm sido torturados para desfazer a história que apresentaram.
– Que coisa estranha. Será verdade? – O juiz estava visivelmente incomodado.
– A motivação do Espeto de Pau é que nós consigamos trazer os três amigos para a PIC de modo a terminar com os espancamentos.
– Vai ser muito difícil. É quase impossível. – Confessou Alves Monteiro antevendo a atitude de Agostinho Lourenço.
Pereira dos Santos continuou:
– Infelizmente, não foi possível recolher impressões digitais no tubo encontrado no esgoto da Barbosa du Bocage. É isto, Senhor Diretor-Geral.
– Para começar, não é mau. Será necessário investigar o paiol dessa mina e descobrir onde pára o serralheiro – Observou, satisfeito com as informações que recebia.
– Tenho dois homens a caminho do Alentejo. Eu próprio irei bater a algumas portas de gente que conheço e que nos pode ajudar a encontrar o Raul.
– Não estará detido pelos esbirros da António Maria Cardoso?
– Procurarei saber. Eles espiam-nos, mas nós também temos lá alguns informadores. – Admitiu o Chefe com um sorriso.
– Sabe o que é extraordinário? Estão detidos os possíveis autores do atentado e a polícia política faz de conta que não existem. Como é possível?
Pereira dos Santos foi judicioso.
– No reino dos céus, tudo é possível. Naquela casa, tudo é infinitamente possível!
* * *
O pequeno-almoço foi carrancudo. Albertina, inquieta, tentava vislumbrar a preocupação que dava tons mais cinzentos ao rosto de Carolino.
– Eu vou hoje para o Porto. – Disse a medo.
– O quê? Hã? – Perguntou, distraído.
– Disse-te que ia ver a minha irmã. Está adoentada.
– Ah, sim! Apresenta-lhe os meus cumprimentos.
Ensimesmado, Carolino não voltou a falar durante a refeição. Vestiu o sobretudo e, ao despedir-se, questionou-a:
– Tu andas bem, não é verdade?
– O quê? – O coração da mulher começou a bater a galope.
– Tens um ponto fraco, Albertina. Falas enquanto dormes e eu acordo porque tenho o sono leve.
– Falo? Nunca me disseste que falava durante o sono.
– Esta noite gritaste, Arengas! Arengas! Não percebi se estavas a falar ou a protestar com alguém que no teu sonho estava a arengar.
– Não sei. Não me lembro daquilo que sonhei.
– De facto, seria um nome estranho. Ninguém tem um nome tão indecente. Só os pobres. Talvez chamasses por um cão ou, apenas, usavas o tempo presente do verbo arengar. Curioso, por sinal. É muito raro ouvir esse verbo.
Ficou transtornada. O pavor vinha da descoberta que falava enquanto dormia. Até o sono se tornara seu inimigo. Precisava de sair daquela casa, decidiu. Para além da repugnância que sentia por Carolino, seria incapaz de voltar a adormecer sem medo. Nada lhe garantia que os sonhos não fossem a sua sentença de morte. Perdera a ínfima parcela de liberdade que respirava. O seu confessor fugia a galope dos pecados, medroso, como se ela fosse um sinal do Demónio. Os seus dias eram vigiados. As noites, escutadas. O cerco que o destino lhe impôs ameaçava sufocá-la.
Correu a fazer uma pequena mala com roupa de viagem. Tinha de falar urgentemente com Arengas. Mandou um moço de recados entregar-lhe a mensagem, que fechou num pequeno envelope, e pôs-se a caminho da estação do Rossio.
Deu logo pelo polícia que estava incumbido de a seguir. Não se amedrontou. Quem já não tem nada mais para perder, pouco se importa com mais uma agressão.
Reparou, enquanto esperava no cais de embarque, que o homem estava agitado, indeciso, deixando cair o disfarce. Uma alegria estranha fê-la sorrir. Sabia, pelas conversas do marido sobre despesas e movimentos de pessoal, que o seu perseguidor não esperava que ela fosse apanhar um comboio e não teria autorização para continuar aquela aventura.
Tinha razão. Quando o comboio se pôs em movimento, espreitou pela janela. Ao vê-lo tão abatido, não conseguiu evitar de lhe acenar um adeus de despedida. Ele atirou o chapéu ao chão, num arremesso de raiva, e espezinhou-o. Não lhe restava qualquer dúvida. O alvo descobrira que era seguido!
Ao passar o túnel, o comboio começou a abrandar. Sinal de que a estação combinada com Arengas estava próxima. Alguns passageiros levantaram-se, encaminhando-se para a porta. Na sua maioria, seriam operários e empregados de escritório. Não descortinava alguém que pudesse estar de atalaia aos seus movimentos, mas foi com as pernas a tremerem que desceu em Campolide. Cruzava-se gente que partia e que chegava em rápida agitação e, sem que o tivesse visto, escutou a voz de Arengas em surdina.
– Vai pela plataforma até ao final e viras à esquerda.
Mal teve tempo de o ver, ele já se embrenhava no emaranhado de gente, e avançou. Não se lembrava de tamanho nervosismo. Mais parecia um frágil malmequer estremecido pelo vento.
Quando saiu da estação, viu Arengas a pouca distância. Ele fez-lhe um sinal com a cabeça para que o seguisse e começaram a andar, como se fossem dois desconhecidos. Enveredaram por uma rua estreita, escura, pejada de lixo. Um bando de gatos zangados disputava os restos de comida espalhados no chão e, mais adiante, um cão sarnoso lambia doentiamente a perna cravada de pústulas. Albertina não escondia a inquietação ao caminhar por aquela clandestinidade forçada para se esconder de ameaças que jamais imaginara, mesmo nos pesadelos mais negros.
Arengas parou e fez-lhe sinal para que se aproximasse. À sua frente surgiu uma porta ressequida que, por cima exibia uma tabuleta desgastada pelo tempo, informando que se tratava de uma casa de dormidas. Ao reparar na inquietação dela, segredou:
– É uma casa pobre, mas segura. Conheço bem o dono e não corres riscos.
Quando chegaram ao quarto, a mulher sentou-se na cama, dobrada sob o peso do medo, e chorou convulsivamente.
– Nunca pensei cometer uma loucura como esta, meu Deus!
– Nunca estiveste sozinha. Segui-te discretamente.
– O que vai ser a nossa vida? – Soluçou e começou a enumerar mágoas: – Ando a ser seguida pela polícia política, fui confessar-me e o padre fugiu de mim. O Carolino disse-me que eu estava a sonhar e gritei pelo teu nome. Nem a dormir posso encontrar sossego.
– A sério?
– Não sei se sonhei ou se não foi ele a provocar-me.
O desespero procurava abrir portas que lhe mostrassem um recanto de paz.
– Vamos embora daqui! Eu tenho dinheiro, fugimos deste País. – Propôs, revoltada.
– Sabes que não é possível. Pisávamos a fronteira e o teu marido prendia-nos.
Ficaram em silêncio embrenhados num mar de tormentas.
– Diz-me a verdade. Tu gostas mesmo de mim? – Inquiriu ela, por fim.
– Que pergunta, Albertina!?
– Diz-me. Preciso que sejas sincero e contes o que te vai no coração para eu não me sentir tão perdida.
Arengas acariciou o queixo, olhar fixado no chão, pigarreou antes de responder.
– Ao princípio, levei a nossa relação a brincar. Não passava de mais uma aventura. – Sorriu ao recordar-se do primeiro encontro. – Quando te abordei na casa de banho, no casamento onde nos conhecemos, tinha três namoradas. Era um pirata. Nada era sério. Só queria divertir-me. Corria jardins e praças todas as semanas à cata de criadinhas de servir.
Interrompeu a confissão quando se foi sentar na cama ao lado de Albertina.
– No dia seguinte àquela sessão de sexo maluco na casa de banho, fui espreitar-te à Igreja de São Roque. Caminhavas em direção a mim tão bela e tão frágil que eras uma papoila insegura que resistia ao vento de todas as amarguras. Vivi uma experiência que nunca imaginara. Fiquei viciado. Precisava daquela emoção intensa, deslumbrante, que senti nos portais de São Roque. Larguei tudo. Acabaram-se as namoradas. Acordo e o meu primeiro pensamento é para ti e é contigo no coração que, à noite, adormeço. – Arengas emocionou-se com a narrativa. – Tinha dificuldade em aceitar a verdade que desabrochou dentro de mim. Tornou-se urgente o desejo de te ver. Tocar-te. Escutar a tua voz. Bastava que sorrisses e eu sentia-me em festa. E depois deixei de ter dúvidas.
– Quais dúvidas? – Perguntou ela, comovida.
– De que tu eras o grande amor da minha vida.
Abraçou-o com soluços.
– Quero-te tanto. Vivo à espera do momento em que te encontro, em que sinto os teus braços a apertarem-me contra ti. A minha vida és tu!
– Amo-te, princesa.
Ficaram sossegados naquele longo abraço, em silêncio, fortaleza de emoção que momentaneamente os protegia da intempérie. Era certo. Deus criou o abraço para apaziguar a dor.
Mais tranquila, Albertina afastou-se.
– Cheguei ao limite, meu querido. Estou cercada por desprezo, mergulhada num poço escuro, onde, de vez em quando, tu brilhas como uma estrela fugaz que, de repente, desaparece. Não tenho dias, nem noites. Perderam-se os sorrisos à minha volta e eu própria já desaprendi o prazer da alegria. Estou cercada por fantasmas que me vigiam, que me roubam a vontade de viver. – Suspirou, deixando sair a amargura. – Não suporto a loucura do meu marido. E tenho medo dele. Debaixo daquele delírio, esconde-se uma crueldade que os olhos denunciam e que me atemoriza.
De súbito, transfigurou-se. Um assomo de raiva sacudiu-lhe o corpo e escondeu o rosto na almofada para abafar o grito.
– Ainda por cima é um devasso. Um infame que abusa de crianças.
Arengas abriu a boca num espanto desconfiado.
– O Carolino?! Segundo me contas é o homem mais beato que existe em Lisboa.
– É um porco! Mostra-se como o exemplo do salazarismo perfeito, o patriota sublime e, todas as semanas, recebe um telefonema de uma tal Aurora, que percebi ser governanta de uma casa de matriculadas. Veste apressadamente a gabardina e desaparece.
– Tu estás a falar a sério? Eu conheço essa Aurora. Dá informações à nossa Brigada para não lhe fazermos rusgas. Isso dura desde quando?
– Depois de o meu pai morrer. O Carolino tinha medo dele. Passou a procurar coisas nojentas.
– Como podes ter a certeza de que são crianças? Não serão mulheres?
– Não, não são. Eu ouvi alguns telefonemas sem que ele se apercebesse. – Respondeu com firmeza.
– Que grande javardo. Quem havia de dizer? O maior pavão da polícia política!
Nenhum dos dois podia imaginar, enquanto decorria a partilha de segredos, que naquele momento Carolino passeava pela casa, fumando cachimbo, inventando maneira de contribuir para que a sua Polícia não fosse humilhada pelas incursões do juiz Alves Monteiro. A preocupação era tanta que não o deixava sentar, devido às cãibras que a ansiedade lhe provocava nas pernas. De vez em quando, parava, ora junto ao altar onde um Cristo de prata escutava as suas preces, ora diante do retrato de Salazar.
O telefone tocou. Era Aurora.
– O que é? – Perguntou, desagradado por lhe terem interrompido a reflexão. Queria despachá-la o mais depressa possível.
– Hoje não estou com vontade. Tenho trabalho.
A mulher disse qualquer coisa que, de repente, empertigou o coronel. Um brilho de entusiasmo ruborizou-lhe o rosto.
– Como é que descobriste uma joia dessas? Tens a certeza?
O lábio inferior do homem tremeu de excitação.
– Vou já. Vou imediatamente!
Desvairado, correu para o bengaleiro onde estavam o chapéu e a gabardina. Apalpou o casaco para confirmar que tinha a carteira e saiu a galope. Galgou a Rua da Barroca num ápice e foi, ofegante, que fez os últimos metros até ao prostíbulo.
Aurora abriu-lhe a porta com um sorriso rasgado.
– Meu caro coronel. Não se vai arrepender de ter saído de casa.
– Não me trates por coronel. Tenho de passar despercebido. É verdade aquilo que me disseste ao telefone? – Murmurou, lançando um olhar sobre os homens que assediavam as matriculadas disponíveis para a função.
– É um anjo! Foi a mãe quem a trouxe e quer o dinheiro antes do encontro.
– Pago antes de me servir?
– Foi sempre assim.
– Quanto é?
– Dez escudos.
– Dez escudos!? Mas é uma fortuna! – Exclamou.
– Quem quer novidades tem de puxar os cordões à bolsa. Olhe que a lista de interessados é grande.
A chefe das meretrizes aguçou-lhe o apetite ao ameaçá-lo com a concorrência da procura.
– Dez escudos...É mesmo virgem?
– A menina ainda não fez onze anos. Nem sabe para que serve o sexo.
– Mas dez escudos?! – Ainda hesitava. Nunca pagara um preço tão exagerado.
– E tem fome. – Acrescentou Aurora.
– Fome? Como é que tem fome se ainda é virgem?
– Não é fome dessa que está a pensar. É daquela ruim, que morde no estômago. Enquanto esperava que o senhor chegasse, ficou a comer uma sopa que eu lhe arranjei.
– Ah, bom! Agora percebi. Fome da verdadeira. Dez escudos! Ora deixa cá ver.
Procurou a carteira com sofreguidão.
– A mãe não vai saber com quem ela esteve, pois não? – Questionou, desconfiado.
– Não se preocupe. Fica a ouvir o fado.
Parou por momentos, como se procurasse medir as palavras.
– Coronel, a miúda vai sair virgem daquele quarto, não é verdade?
Abriu os braços num gesto de generosidade.
– Sabes bem que apenas procuro a pureza dos anjos. O sexo é semente do pecado. Uma virgem é uma espécie de encontro com a imaculada grandeza dos céus. O meu prazer está nesse ponto. Acariciar a perfeição, ter nas mãos o dom divino da virtude perfeita. O mais longe que irei, como sempre acontece, é que ela me chupe. Não pelo prazer lascivo dos pecadores, tão-só para que a sua pureza possa ingerir um pouco da minha espiritualidade.
Aurora sorriu, embaraçada. Conduziu-o pelo corredor e abriu-lhe a porta de um quarto, onde uma menina com o cabelo preso numa trança e abrigada num xaile velho, brincava com uma boneca de trapos.
Depois, não conseguiu evitar o vómito quando o deixou. Aquele monstro enojava-a.
* * *
– Eu tenho uma teoria! Vocês hoje madrugaram porque há moiro na costa.– Declarou gravemente o Tibornas.
Eurico reagiu.
– Hoje não tenho pachorra para aturar as tuas teorias. Dá-nos o café com leite e desampara-nos a loja.
Ainda rosnou c’um cacete!, e afastou-se, amuado. A verdade é que não se haviam deitado naquela noite. Dos interrogatórios de Alves Monteiro, cada vez mais incisivos, resultavam pedidos de buscas, detenções, a procura de novas testemunhas e medidas suplementares de proteção pessoal.
No dia anterior, Agentes da polícia política tinham invadido a casa dos pais de Eurico, procurando jornais clandestinos, acusando-os de serem reviralhistas. Também a residência de Simão fora devassada, espancando o pai, quando protestou que ali vivia um polícia.
O Chefe saltou na cadeira quando soube das tropelias. Era claro que procuravam pressionar os seus homens e colocou o problema a Alves Monteiro, com deselegância.
– Que raio de compromisso fez com os ministros da Justiça e do Interior? Não ficou claro que os pastores-alemães da polícia política não poderiam atacar os homens que trabalham para si? As famílias de dois dos meus Agentes foram maltratadas por esses merdas. O Senhor Diretor-Geral deu-nos a sua palavra de que, ao cumprirmos as suas ordens, não seríamos objeto de represálias, e afinal comeram-no.
O juiz não respondeu à irritação do Chefe. Pegou no telefone e ligou para o chefe da PVDE.
Começou a falar assim que o contacto ficou estabelecido e se identificou.
– Quero que saiba que tenho consideração por si e respeito pela difícil tarefa que tem sobre os ombros. Não deve ser fácil zelar pela segurança política do Estado Novo. Mas palavra de honra é para cumprir. O quê? Não, oiça-me até ao fim que isto não é uma conversa, mas um aviso. Vai mandar parar os seus rufias que andam a perseguir alguns dos funcionários da PIC que trabalham comigo. Pára mesmo! Ou então suspendo aquilo que estou a fazer, recuso-me a viver uma farsa e serei eu quem irá, por aí fora, revelar os vossos métodos. O quê? Não, não é uma ameaça. É um aviso sério. Pare com esta pouca-vergonha, se faz favor, se pretende ser considerado como um homem de honra!
Desligou o telefone e o Chefe ficou sem palavras, atónito, perante a coragem de Alves Monteiro. Por fim, conseguiu articular algumas palavras.
– Peço-lhe desculpa. Acho que fui grosseiro com Vossa Excelência.
– E eu fui um ingénuo ao acreditar na boa-fé deste indivíduo. É mais astucioso do que uma raposa.
A conversa ficou por ali. No entanto, ao chegar à Brigada, expôs o assunto com clareza a Simão e a Eurico.
– O nosso Diretor-Geral ficou em brasa com aquilo que vos aconteceu e exigiu à PVDE que terminasse com esta nojeira. Foi rijo, mas são cães que não conhecem o dono. Julgo que todos nós deveríamos pôr as nossas famílias em segurança. Deslocá-las para outras moradas e protegê-las destes tipos. Temo que continuem a fazer tropelias enquanto estivermos ligados ao processo do atentado.
Ao final da tarde, puseram o plano em marcha. A esposa e os filhos do Chefe ficaram em Sintra, na casa dos sogros, enquanto Eurico, acompanhado por Arengas, levou os pais para Viseu, sua terra natal, bem longe das garras dos vampiros.
Apenas o pai de Simão se recusou a sair de casa.
– Não temo esses homens. Daqui só me levarão no dia em que morrer.
Não insistiu. Simão conhecia-lhe o feitio e não haveria argumento que o demovesse. Optou por fazer uma vistoria aos seus livros, escondendo alguns que sabia estarem proibidos pela Censura, separou jornais que pudessem insinuar suspeitas sobre os interesses de ambos, queimou folhetos de propaganda, cadernos com apontamentos antigos que já não teriam utilidade.
Naquela manhã, quando se encontraram na tasca do Tibornas para tomar café com leite, as famílias estavam no reduto da defesa possível.
– Para onde foram a tua mulher e o teu miúdo? – Perguntou Eurico a Frederico.
– Para a casa dos meus sogros, perto de Coimbra. Foi um drama. Levei-os ao Rossio e, quando me despedi deles, foi um drama. A minha mulher lavada em lágrimas, assustadíssima, o puto agarrado a mim, percebendo que alguma coisa de mau estava a acontecer. Estou feito em papas!
– Que raio de País onde temos de esconder aqueles que mais amamos para servir o Estado. Queremos resistir ao medo, mas é bem maior do que nós. – Exclamou Eurico com uma irritação indisfarçável.
– A melhor garantia de sobrevivência neste estado de coisas é ser mais astuciosos do que eles. Os donos do medo comandam as nossas vidas, amedrontam-nos. – Acrescentou Simão.
– Será que a nossa vida vai ser sempre assim? – Perguntou Frederico, angustiado.
Simão evitou responder, questionando-o:
– Sem querer saber o que está no processo, achas que demora muito tempo para terminar?
– Julgo que não. Faltam duas ou três inquirições. O Diretor-Geral é metódico e eficaz.
Frederico não conseguiu esconder um sorriso quando deixou escapar:
– O interrogatório do Granja foi decisivo, embora parecesse uma conversa de malucos. Quando estivermos libertos desta dor de cabeça, eu conto-vos.
Na verdade, a intervenção do taxista apanhou Alves Monteiro desprevenido. Falava por impulso sem qualquer reserva sobre as palavras que proferia. Logo à abertura foi claro.
– Oiça cá, ó senhor. Se quer que eu diga tudo aquilo que sei tem de fazer duas coisas. Em primeiro lugar, não me bate, nem manda ninguém torturar-me. Lá na outra banda, os seus colegas não sabem falar sem dar porrada numa pessoa.
– Não são nossos colegas. Eles são uma polícia política e nós uma polícia criminal. – Tentou atalhar para dar rumo à conversa.
Granja não desarmou.
– Não sei. Para mim são todos iguais. Portanto, se não me derem uma tareia, eu contarei tudo porque sou o único que tudo sabe.
– Posso garantir-lhe que ninguém o tratará mal. – Asseverou Alves Monteiro e perguntou: – Qual é a outra coisa que quer pedir?
– Os vossos colegas da António Maria Cardoso tratam-nos como se fôssemos animais. Não é só porrada. A comida que nos dão nem os porcos se chegavam a ela. Tenho fome!
– Eu mando vir uma sande de queijo e uma cerveja. – Sugeriu o juiz.
– Há anos que não como um bife com batatas fritas. Desde que entrei na casa dos trinta e já tenho trinta e cinco anos. Massa, feijão, batatas, coiratos, um pedaço de chouriço, um guisado quando o rei faz anos. Comida de pobres. Arranja-me um bife com batatas fritas e um copo de vinho e resolvo-lhe o caso. É pegar ou largar!
Terminou, altaneiro, mirando a expressão surpreendida do juiz, enquanto cruzava os braços com ar de desafio. Atarantado com aquela entrada vigorosa, Alves Monteiro ficou desarmado. Perguntou, ainda não recomposto, sem resposta para o desafio:
– Quer bife de porco ou de vitela?
– Tanto faz. Ah, e com ovo estrelado.
Procurou a ajuda de Frederico, que fez um sinal de concordância, disponibilizando-se para ir buscar a refeição. As exigências eram tão inusitadas que Alves Monteiro não conseguiu abrir a boca até o motorista terminar a refeição. Estava faminto. Comeu com lascívia e suspirava de prazer. Os olhos vivos semicerravam a cada garfada, o corpo estremecia de satisfação a cada gole de vinho. Frederico esmerou-se. Pressentia que aquele almoço poderia ter consequências profundas na predisposição psicológica do detido. Levou, para além do exigido, café e bagaço. Granja agradeceu a gentileza com um formidável arroto ao concluir o repasto.
– Há muito tempo que não provava um petisco com esta categoria. Estou às vossas ordens! – Declarou, visivelmente satisfeito.
– Tenho comigo as declarações que prestou na Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Quer que as leia? – Perguntou Alves Monteiro.
– Cague nisso. Só para não levar mais tareia é que disse algumas coisas. As outras que aí estão foram inventadas pelos vossos colegas.
– Já lhe disse que não somos colegas.
– Não interessa. Usam todos a mesma farda. Gabardina ou sobretudo. Portanto, são iguais.
Frederico interveio.
– Desculpe intrometer-me na conversa. Está a falar com um juiz. Era sensato que tivesse algum tento na linguagem.
– Cague na minha linguagem. A forma como falo não interessa. O que querem saber está dentro das palavras, sejam elas quais forem, não é verdade?
– Vamos ao que interessa? – Quis saber o juiz.
– Sempre cumpri quando me respeitam. Perguntem o que quiserem. Já não tenho nada a perder.
Começou a falar e escutou-se o teclado da máquina de dactilografar durante horas. Explicou como lhe nasceu a ideia ao descobrirem a rotina domingueira de Salazar, na visita à casa do amigo, na Barbosa du Bocage. O caminho para encontrar correligionários e arranjar os explosivos. Descreveu minuciosamente a preparação da bomba, como se dispuseram no terreno no dia em que tudo aconteceu. Os rebates de consciência de camaradas que se foram entregar. Não escondeu qualquer nome, não ignorou o mais ínfimo dos pormenores. E rematou com um desabafo:
– Foi pena que o cabrão não tivesse morrido. Já não haveria tanta maldade à solta e tanta fome pelas ruas.
* * *
No bar da PVDE, vários Agentes das Brigadas de Maia Mendes tomavam um pequeno-almoço tardio. A noite fora de buscas e de rusgas e haviam prendido quatro comunistas.
Baltar aproximou-se de uma mesa, bebericando um branco velho.
– Correu bem a caçada, pelos vistos – Comentou, enquanto se sentava.
– Trouxemos quatro. Julgo que já está dentro toda a direção do Partido Comunista para a região de Lisboa. – Informou Samuel.
– Eles falam? – Tornou o Chefe.
– Três deles são muito rijos. Mas o Domingos abre-se. – Previu o Agente.
– Tens a certeza?
– O Júlio Almeida é muito duro e bate com força.
– Pois. Para a pancadaria, o Gonçalves é mais dedicado. Gosta de lhes aviar o lombo com fartura de pancada. – Exaltou Baltar as qualidades do seu subordinado.
Antero contraditou o Chefe.
– O Gonçalves bate à bruta. Não é científico.
– Há ciência em dar porrada? – Brincou Baltar, bem-disposto.
– Claro que há. Não se pode perder a cabeça quando se dá um enxerto num tipo. O Gonçalves entra em parafuso, rebenta-lhes a boca, parte-lhes o nariz. Já cegou um merdas de tanto murro que lhe deu nos olhos.
– Sempre aprendi que aviá-los é o melhor dos remédios. Com ciência ou sem ciência.
– Isso são tempos antigos, Chefe. Bater exige controlo e estudo do animal que está à nossa frente. O Júlio Almeida percebe da poda. Se lhes sente os abdominais fracos, cada pera que lhes dá no fígado é um coice de cavalo. Se os sente fracos dos rins, pega na régua e até relincham.
– Eu, não é para me gabar, mas também bato bem. – Reclamou Samuel, e concluiu com uma gargalhada bem-disposta: – Embora goste mais de lhes dar um tiro na tola e não me cansar com os murros.
– O nosso Diretor não gosta disso. – Censurou Baltar.
– Infelizmente. Já conheço a história. Mais confissões e menos mortos. – Respondeu com desagrado.
– Existem outras maneiras de os despachar sem ser com tiros na tola, como tu lhes chamas. Vão para a cadeia e ficam à espera de que a tuberculose ou uma pneumonia os leve desta para melhor.
– Sai mais caro ao Estado. Tem de se lhes pagar a comida e a dormida.
– Não somos nós que pagamos. Aviem esses merdas, e, se acreditam que com ciência a coisa vai mais rápida, pondo-os a falar, então enxertem-nos com porrada científica.
Baltar deu duas palmadas amigáveis, em jeito de despedida, no ombro de Antero e saiu. O Agente comentou:
– O Chefe Baltar vem dos tempos antigos. Tudo ao molho e fé em Deus.
– Diz-se que pertenceu à Carbonária, no rebuliço da República, e que foi um dos marinheiros que mataram o Carlos da Maia, o António Granjo e o Machado dos Santos. – Informou Samuel.
– Talvez, não sei. Que é bruto, não tenho dúvidas. Mas o Chefe Mateus Júnior é pior. Quer dizer, muito melhor. Um verdadeiro gigante! Tenho uma grande admiração por ele.
– É completo. Homens assim há poucos. Sabe espancar, sabe dar-lhes a volta e sabe comandar. É completo!
Os restantes concordaram.
Enquanto decorria esta conversa sobre as grandes virtudes da tortura, Mateus Júnior continuava na guerra psicológica. Agora tinha José Horta à sua frente, depois de Gonçalves lhe ter estoirado os lábios.
– Já foste várias vezes avisado de como te deves comportar. Aqui, ninguém renega as confissões que faz.
– Sim senhor. – Murmurou, enquanto limpava o sangue que lhe escorria da boca.
– E quando tudo isto acalmar, vais contar-me quem é a tua ligação à Internacional Comunista e como te fizeram chegar os explosivos às mãos. – Ameaçou Gonçalves.
Olhou, timorato, para o Agente que o torturava de cada vez que o traziam da cela e balbuciou:
– Sim, senhor.
Mateus Júnior virou-se para Gonçalves.
– Vai buscar o Alfredo Elói para explicar outra vez a este marmelo como se deve portar com decência. No Alto do Pina, só moram malucos e esse é o único com cabeça para meter esta corja no lugar.
Tornou a enfrentar José Horta.
– Precisas de alguma coisa?
– Queria ver a minha mãe. Ela não sabe nada de mim há dois meses.
– Porta-te como um homenzinho e podes ter a certeza de que vais ver a tua mãe. Até dar-lhe um abraço, se puseres juízo nessa cabeça.
O telefone tocou e o Chefe foi atender.
– Sim. O quê? Prenderam-no esta noite? Já aí vou ter.
Desligou. Nesse momento, Gonçalves empurrou Alfredo para a sala.
Mateus Júnior confrontou o empreiteiro de aterros.
– Vou confiar em ti para dares bons conselhos a este rapaz. É o único que ainda não está convencido da vossa culpa.
Dirigindo-se ao Agente, ordenou:
– Deixa-os à vontade. Fecha a porta e aguarda no corredor. Eu já volto.
Alfredo, com o coração apertado, observou José Horta. Era a segunda vez que os punham frente a frente e o rapaz encontrava-se ainda mais debilitado.
– Como é isto possível, Zé? Estás desfigurado. Minha Santa Maria!!
– Não fui eu. Você sabe que não fomos nós. – Estrebuchou, indignado.
– Horta, toma atenção ao que te digo. Ouve-me, pela tua rica saúde. Não quero perder mais um amigo. O Tóino atirou-se da janela, anteontem o Jacinto não se foi embora porque o apanharam a tempo, quando já tinha a corda em redor do pescoço e se ia pendurar. Ouve-me! Nós sabemos que estamos inocentes, mas precisamos de ganhar tempo até que tudo se esclareça.
– Não fui eu. Não fui eu. – Teimou, birrento.
Alfredo abanou-o com força.
– Ouve-me! Não podemos morrer enfiados na prisão. Temos de nos salvar, escapar daqui. E só há uma hipótese. Dizermos que fomos nós. – Para lhe dar ânimo, contou: – Não estou a ser maltratado. Nunca mais me bateram e já recebi duas visitas da minha mulher. A comida não é má e dão-me onças de tabaco. Este Mateus trata-nos bem, se dissermos que fomos nós. Até vinho já bebi.
– Não fui eu.
– Não podemos morrer aqui. Horta, nós não podemos morrer aqui. Estás a ouvir-me?
Alfredo chorava convulsivamente, abraçado à demência do rapaz.
Na sala ao lado, Mateus Júnior observava um preso.
– Olhem quem ele é!? O nosso amigo Raul Pimenta!
O serralheiro era um rebelde em revolta permanente.
– Sim, sou eu. Porquê? Querem bater-me, batam-me à vontade. Fui eu quem fez explodir a bomba. Sim, fui eu! E se fosse hoje, faria tudo igual.
– Isto começa mal. – Comentou o Chefe.
– Mal? Estou a confessar aquilo que fiz. Fui eu quem detonou a bomba.
Repetiu, convencido de que era o motivo da prisão.
– É aí, nesse ponto, que sei que estás a mentir. Tu não estiveste no atentado contra o Professor Salazar. És um mentiroso.
Raul olhou, atónito, como se não fosse capaz de acreditar no que o polícia lhe dizia.
– Não estive? Mas se estou a dizer que fui eu!?
Mateus Júnior chamou Gonçalves.
– Explica lá a este marmanjo, com as tuas palavras, que está a mentir quando se diz culpado de ser bombista.
Naquele instante, passava no corredor o estagiário Rosa Casaco e chamou-o também.
– Tu, anda cá ver como se faz um interrogatório que é para aprenderes.
Gonçalves pegou na chibata e começou a zurzir o mentiroso.
Rosa Casaco perguntou:
– É assim tão simples?
– O que é que tu querias? Que fosse mais complicado? – Resmungou o outro, continuando a vergastar o corpo de Raul, que não tugia, nem mugia.
Noutro compartimento do açougue, o pessoal de Maia Mendes continuava a tratar das carcaças desfiguradas que tinham caído sob a sua alçada.
– Espere, não me bata mais. Eu falo. – Balbuciou Domingos, encolhido a um canto da sala, braços cruzados protegendo a cabeça.
– Levanta-te! – Ordenou Júlio, pousando a régua sobre a secretária.
Antero entrou na Brigada e perguntou com curiosidade:
– Então, como estamos?
– O Domingos é bom rapaz. – Respondeu Júlio.
– Sendo assim, portaste-te bem e tens a minha palavra de que vais à tua vida quando esta confusão sobre o atentado terminar. Colaboras connosco e seremos amigos para o resto da vida!
– Já viu o que me propõe? Obrigam-me a trair o meu Partido e, agora, querem fazer de mim um bufo.
– A escolha é outra. Ou apodreces na cadeia ou vives em liberdade sem ninguém te incomodar. – Argumentou Antero.
– Sem um pingo de dignidade. – Rematou o militante comunista.
– Passas a ser um homem normal. Acabaram-se os encontros clandestinos, as reuniões para conspirar. Casas, tens filhos, trabalhas, cuidas da família, vais ao futebol, queres vida mais livre e digna do que esta? O Estado Novo não espera mais do que isto de qualquer pessoa. É pedir muito?
Duas horas depois, Maia Mendes apresentava um relatório detalhado a Agostinho Lourenço.
– Destruímos uma tipografia do jornal Avante, a rede comunista da região de Lisboa foi desmantelada, nestas últimas semanas prendemos catorze agentes subversivos. Nunca fomos tão eficazes na luta contra os rebeldes ao Regime.
– Muito bem! – Comentou, satisfeito. Como se estivesse a refletir em voz alta, o Diretor-Geral sublinhou: – De certo modo, este atentado foi a melhor coisa que aconteceu. Uniu as Forças Armadas em torno do Professor Oliveira Salazar, reavivou o apoio dos bispos à nossa Causa e, finalmente, conseguimos dar um dos mais duros golpes ao inimigo interno. Um belo atentado, não haja dúvidas!
* * *
Alves Monteiro estendeu a mão a Frederico para o cumprimentar.
– Quero agradecer-lhe a companhia ao longo destas semanas. Foi um trabalho duro, que valeu a pena.
– Não necessita mais de mim, Senhor Diretor-Geral?
– O processo está pronto. Preciso de agradecer ao vosso Chefe a colaboração.
Arrumou as peças processuais, enquanto o informava:
– Aviso-o quando estiver concluído o relatório com a acusação final. Garanti ao Senhor Ministro que ficaria tudo feito até ao próximo fim de semana, para enviar à Polícia de Vigilância e Defesa do Estado.
O Agente fitou-o com reserva.
– Vossa Excelência vai mandar o caso para a polícia política? Não teme que destruam o nosso trabalho?
O juiz riu, bem-disposto.
– Não sou assim tão ingénuo. Há de levar-lhes uma cópia. A outra ficará na nossa posse e o original seguirá para o Tribunal comum. Estes homens devem ser julgados por juízes independentes. Não foi por ser burocrata que lhe pedi que escrevesse com folhas em triplicado.
Tornaram a cumprimentar-se e o Agente dirigiu-se para a sua Brigada. Era esperado pelos colegas. Despiu o casaco, alargou o nó da gravata e disse, bem-disposto:
– Ganhei outra vez a liberdade! Tenho o rabiosque a arder por ter passado tantas horas sentado à máquina de escrever.
– Ganhaste a liberdade, é uma forma de dizer. A liberdade nesta terra só se encontra nos cemitérios – Respondeu Eurico.
– Seja como for. Posso voltar a ver a minha mulher e a minha filha. E andar! Dói-me o rabo e as pernas, que nem as sinto.
Arengas não conseguiu evitar a brincadeira.
– Olha lá, essa dor na peida não terá sido um excesso sexual do Diretor-Geral?
– O homem é demasiado puritano para se atrever a esse tipo de tentações. Citando o clássico Tibornas, o nosso Diretor-Geral é de fibra. C’um cacete!
Chegavam ao fim os dias de trabalhos forçados. Todos os participantes no crime estavam detidos, com exceção dos dois financiadores, que bem cedo fugiram do País. A Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, ao entreter-se com os desgraçados do Alto do Pina, permitira que eles lhe escapassem entre os dedos. Alves Monteiro não se incomodou com tal deserção.
– O que importa é a prova. Ligar factos a pessoas e demonstrar essa relação de forma inequívoca. É esse o objetivo principal de um processo-crime.
Pereira dos Santos entrou na sala onde se encontravam os seus homens e perguntou em tom de brincadeira:
– Estamos de férias?
– Bem as merecemos, Chefe. Acabámos de saber que o nosso Diretor-Geral correu com o Frederico por já não precisar dele e também para que não se habituasse ao lugar. Mais uns tempos e acabava por lhe roubar o posto de comando. – Gozou o Arengas.
– Acabou mesmo? – Perguntou, curioso, ao Agente.
– Fim, Chefe. Finito! Desta já nos livrámos. O Doutor Alves Monteiro vai chamá-lo para lhe agradecer os préstimos.
– Também nos podia agradecer. Fartámo-nos de fazer buscas e ainda prendemos o Vaz Rodrigues e o João Valentim, que forneceu a dinamite. Para além de termos procurado mais de dez testemunhas. – Comentou Eurico em jeito de censura.
– Agradeço eu. O resto desta semana estão de folga. Espero por vocês na próxima segunda-feira. Vão ter com as vossas famílias que já chega de isolamento.
A sala ficou cheia com as manifestações de alegria. Arengas foi mais longe. Abraçou o Chefe e deu-lhe um beijo na testa.
– O senhor quando morrer vai para o céu. – Em voz baixa segredou-lhe: – Espero que, na segunda-feira, já tenha ordem para eu ser transferido para o Porto.
Apenas Simão ficou na sala. Passados instantes, Pereira dos Santos voltou a aparecer e perguntou-lhe:
– Então, não vai gozar a folga? Você merece-a mais do que qualquer um ao reconstruir as pistas que nos levaram a esclarecer o caso.
O jovem encolheu os ombros com indiferença.
– Estou à volta com um dilema. Um destes dias, o Eurico perguntou se a nossa vida vai ser sempre assim, entre o medo e o desejo de liberdade.
– E ainda não encontrou resposta para essa terrível contradição.
Meneou a cabeça e, macambuzio, respondeu:
– Não. Por isso, lhe pergunto, Chefe. Terá de ser sempre assim?
* * *
Carolino estava embrenhado nas contas do economato da PVDE. Os custos com o pessoal que trabalhava na fronteira eram um bico-de-obra para o cumprimento do orçamento. Sobretudo desde o ano anterior, depois de as tropas franquistas, lideradas pelo Coronel Juan Yague, tomarem Badajoz numa das mais violentas batalhas da guerra civil. A fúria dos combates e os massacres que se lhes seguiram provocaram um êxodo maciço de gentes que fugiam à barbárie, passando a raia e, desesperados de fome e medo, implorando ajuda pelas aldeias e vilas alentejanas.
As ordens de Sua Excelência eram claras: capturar e devolver aos falangistas todos quantos desertavam da sua terra em guerra. Não haveria compaixão.
É verdade que Carolino guardava gratas recordações do ano anterior. Encontrava-se em Elvas quando as hordas marroquinas atacaram Badajoz. Nos ouvidos ficaram-lhe os silvos de morte dos Stukas nazis a vomitarem bombas sobre a cidade e teve a sumida honra de ser convidado pelos oficiais de Franco a assistir aos fuzilamentos que se desenrolavam na praça de touros.
Numa tarde de agosto, ao lado de outros amigos, viu, com muito gosto, serem dizimadas dezenas de dezenas de republicanos. As metralhadoras, fixadas num canto da praça, esperavam os presos, que chegavam em camiões. Despejavam-nos na arena e as rajadas cantavam ‘cara al sol con la camisa nueva/ qué tu bordaste em rojo ayer/ me hallará la muerte si me leva/ yo non te vuelvo a ver. Tombavam cadáveres regurgitando rios de sangue, que alagavam o recinto, o odor a pólvora e a morte exacerbavam os sentidos, e era comovente testemunhar a heroicidade dos fuziladores, que, joelho no chão, armas firmes entre as mãos, varriam com redobrada energia os inimigos da cristandade.
O amigo que o convidara para aquele dia do massacre, sentado ao seu lado, explicou-lhe porque matavam crianças.
– São sementes do Diabo com que os pais comunistas polvilharam o futuro de nuestros hijos.
Carolino concordou. Era justo matá-las. Aliás, foi naquele recinto de morte que soube que republicanos, socialistas, anarquistas, eram várias faces do mesmo inimigo diabólico. No fundo, eram todos comunistas. O universo do Mal era vermelho, adversário maior dos homens de fé, pensamento apontado à destruição da civilização e das virtudes da Santa Madre Igreja. Redobrou o seu respeito pelo General Franco e admitiu que Portugal bem precisava de uma plaza de toros tão nobre como aquela, centro da cruzada que purificava a Espanha.
Foi com lágrimas nos olhos, sorriso de felicidade no coração, que, no final da mortandade desse glorioso dia, compartilhou com a assistência a saudação fascista, a cantar o hino de Primo de Rivera, enquanto nos camiões empilhavam os cadáveres que seriam levados para as valas comuns do cemitério de San Juan.
A alegria daquele dia inesquecível foi uma apoteose. O reverso era a dor de cabeça do coronel para gerir as dezenas de Agentes da PVDE que conduziam a caça aos foragidos em terras lusas. Levantou a cabeça dos papéis de contabilidade quando viu o Capitão Amorim entrar no seu gabinete e fechar a porta à chave. Tentou brincar.
– Meu caro amigo, está a tentar sequestrar-me no meu próprio gabinete?
O recém-chegado não lhe respondeu. Atirou para cima da secretária um envelope com fotografias. Perguntou-lhe:
– Sabe o que é isto?
O coronel, atónito, exclamou:
– Não é possível! A minha Albertina com outro homem. Não é possível!
Amorim foi impiedoso.
– Há meses que dura este romance debaixo das suas barbas. Todas as semanas se encontram, pelo menos duas vezes.
A cólera arfava no transtorno de Carolino. Saltou da cadeira, enquanto repetia a visualização das fotografias.
– Eu mato-a! Ela não me podia fazer isto. É meu dever matar esta pecadora. Cabra! Mil vezes cabra!
O Capitão segurou-lhe o braço e a voz saiu mansa, procurando acalmá-lo.
– Tem muito tempo à sua frente para repor a sua honra. Por enquanto, não mata ninguém.
A mansidão de Amorim ainda tornou Carolino mais desabrido:
– Não mato?! O senhor quer que eu viva com esta humilhação? Foi sempre assim. É o direito de qualquer homem de bem matar a mulher que lhe foi infiel.
– Escute-me com atenção. O assunto é mais sério do que imagina. O namorado dela é um Agente da Polícia de Investigação Criminal e está na Brigada que trata do atentado contra Sua Excelência. Portanto, não vai dar cabo dela, nem vai afrontar o tipo que a anda a comer. Por enquanto!
Carolino explodiu.
– Que conversa é a sua? Está a ensinar-me como se comporta um homem desonrado? Quem lhe dá esse direito? É da nossa moral, é minha convicção pessoal. Os homens casados podem ter fantasias e aventuras porque é da sua natureza. As mulheres, não. E as casadas muito menos. Esta cabra não merece viver!
Amorim reagiu:
– Saia lá desse mundo da moral e da honra e oiça o que tenho para lhe dizer, homem de Deus. O coronel é inteligente e um dos grandes servidores do Estado Novo. É obrigatório que amaine a raiva porque lhe vai ser pedido um inestimável serviço à nossa Causa.
Não respondeu de imediato. Reviu as fotografias de Albertina e Arengas a beijarem-se, abraçados, rindo. As mãos tremeram e a palidez acentuou-se.
– Ela precisa de morrer. A honra lava-se com sangue.
O Capitão começava a perder a paciência com a obsessão e segurou-o pelos braços.
– Oiça, caralho! Ao menos uma vez na puta da sua vida pense como um polícia que é nesta casa que lhe paga o ordenado. Tem de usar a cabra para saber o que anda a fazer a PIC ao coscuvilhar no processo do atentado que nos roubaram. Mete-a entre a espada e a parede. A sua Albertina vai receber informação do namorado que, depois, lhe passará para trazer para PVDE. Percebeu agora? O Professor Oliveira Salazar vai ficar-lhe grato para sempre.
Havia espanto na expressão do coronel. Titubeou:
– Acha? Acha que Sua Excelência...
– Tem dúvidas? O nosso Diretor-Geral e ele são unha com carne. Não perca a cabeça e preste um bom serviço. Ainda acaba por ser condecorado. Ninguém lhe retirará a Ordem de Torre e Espada, homem de Deus. Alguém que sacrifica a honra para servir o Estado Novo é um mártir herói. Um novo São Sebastião! Um novo São João Baptista! Não percebe como vai ser glorificado? Abra os olhos e pense.
Amansou de imediato. Servir Deus e Salazar era a apaixonada missão que assumiu sem olhar a sacrifícios. Já em tom manso, apaziguador, respondeu:
– Sendo assim, quer dizer, se é para servir o Estado Novo, não a posso matar.
– Claro que não. Sei que lhe estamos a pedir a coragem de um verdadeiro militar em defesa de um objetivo bem mais nobre do que se vingar de um par de cornos. São apenas cornos! Não se pode comparar, por maiores que sejam, com serviço a Salazar e ao Estado Novo. E quem serve Salazar e o Estado Novo serve a Deus. – Concluiu com gravidade. Compôs um sorriso amigável e perguntou: – Como vamos fazer, senhor coronel?
– Vou tratar disto imediatamente.
Recolheu o envelope com as fotografias, enfiou o chapéu na cabeça e pegou na gabardina. Amorim estendeu-lhe o guarda-chuva.
– Está a chover. Leve isto.
Antes que transpusesse a porta, o Capitão ainda perguntou em tom de desafio.
– Tem consciência do seu contributo para a nobre missão desta casa, não é verdade? Não pode deixar de cumprir o seu dever de patriota, matando antes do tempo. Talvez fosse melhor passar por algum café, tomar uma bebida, acalmar os nervos, para não fazer disparates.
Carolino fez um sinal de concordância e desapareceu. Um turbilhão contraditório de emoções perturbava-lhe os sentidos. O despeito e a raiva, a vontade de matança, colidiam com a sua paixão maior de servir o País. Era uma dor imensa! Deu por si a censurar a cegueira. Ele, que tinha as Sagradas Escrituras como farol, não deveria ter ignorado que Albertina era descendente de Eva, a mulher-pecado, que impusera a mortalidade a Adão através da sedução. Todas as mulheres transportavam essa mácula fundadora dentro de si. E culpou-se. Fora desatento à formação de Albertina para viver dentro das virtudes teologais. Para honrar o marido acima de todas as coisas, com exceção de Deus e de Sua Excelência.
Por outro lado, reconhecia a razão do Capitão José Amorim. Era forçoso que se transfigurasse em Tântalo, filho de Zeus. Vencer a fome e a sede de vingança e colocar Albertina ao serviço de Salazar, causa bem maior do que o seu despeito de marido traído. Na verdade, concluiu ele para com os seus botões, assumiria com galhardia o sacrifício de um guerreiro em defesa da Pátria. Deus compreenderia que não reparasse, de imediato, no pecado mortal que a mulher cometera. Afinal, não passava apenas de uma questão de calendário. Não era por acaso que na trilogia veneranda Deus e a Pátria surgiam antes da Família. Urgia defender os primeiros dois pilares da doutrina e, olhando com menos paixão para o abominável comportamento da mulher, usá-la como caminho de penitência para que renascesse a alma da Família.
Confortava-o a ideia de regeneração, pela expiação dos pecados, e foi com esta crença que galgou a Rua do Loreto e chegou ao Calhariz.
Albertina ficou surpreendida quando o viu entrar em horas de estar no serviço. Porém, o coração deu-lhe um baque ao ver o marido pálido de cólera. Retirou o envelope da algibeira e atirou-o na sua direção. Abriu-se durante o voo e as fotografias espalharam-se pelo soalho da sala. Nem precisou de as recolher. Eram dela com o Arengas.
Ainda gemeu:
– Eu posso explicar. Tentei várias vezes falar contigo, mas nunca me quiseste ouvir.
Carolino interrompeu-a com um grito.
– Não quero saber das tuas explicações. Não quero nada! Há muito tempo que não quero saber de ti. Os meus prazeres mundanos encontro-os longe da tua pessoa.
– Eu sei. Com crianças. – Redarguiu Albertina.
– Com quem eu entender. Não são contas do teu rosário, nem da tua condição de esposa. És mulher. A tua função é servir. Servir-me! Mas esta conversa é bem mais séria e uma puta como tu talvez não a entenda. Bem mais séria!
– Mais séria do que o nosso casamento desfeito? – Balbuciou sem compreender onde ele queria chegar.
Carolino deixou-se cair no canapé e avisou:
– Fiz a promessa de não te matar ao homem leal e amigo que me entregou estas fotografias. Portanto, não vais morrer.
Albertina encolheu-se em pânico.
– Carolino, eu...
– Cala-te! Não vais morrer. Eu até percebo. Passo muito tempo no trabalho, sentes-te muito só e nada como uma aventurazinha para distrair. – Subitamente tornou-se solene: – Mas esta aventura tem um custo.
– Um custo? – Perguntou ela num aterrado sussurro.
– Vais ter liberdade para te encontrares com o teu amiguinho da Polícia Criminal. Vais falar com ele. Até pode ser na cama que não te incomodarei. Porém, vou querer saber tudo aquilo que ele e os seus colegas andam a fazer no caso do atentado contra Sua Excelência!
Albertina estava perplexa, sem compreender a chantagem.
– Vou saber o quê? Porquê?
Carolino grunhiu:
– Porque eu quero. Para proteger o Estado Novo e para tão grande esforço todos os portugueses são necessários. Até putas como tu!
O insulto converteu a assustada Albertina numa rebelião em fúria, rugindo como uma tempestade:
– Eu não sou puta! Não passo de uma mulher desprezada, abandonada, que casou com um amante de Salazar. Puta que pariu Salazar! Não passas de um idiota, de terço na mão, rezando por um homem que não sabe que existes. Tal como eu não sei que tu existes. Não conheço o monstro que reza por Sua Excelência, como lhe chamas, e viola crianças. Que não perde uma oportunidade de exaltar a virtude cristã e é cliente de uma casa de putas. Que se diz marido e ignora a mulher que tem a seu lado. Eu não sou uma coisa, Carolino! E, aviso-te, não voltas a chamar-me puta.
O coronel não desarmou e respondeu com suave firmeza:
– Cumpre o teu dever para com a Pátria. Trataremos das nossas contas pessoais mais tarde. A escolha é tua. Ou nos ajudas ou morres. Esta conversa é o verdadeiro milagre da vida e agradece-o a Sua Excelência. Noutras circunstâncias, já estarias a arder nas chamas do Inferno.
Carolino voltou-lhe as costas e saiu, batendo a porta com estrondo. Ela caiu de joelhos, enfraquecida, desfeita em pranto, enquanto recolhia as fotografias espalhadas pelo chão. Chegara o momento que tanto temia. E, na verdade, que tanto desejava. Ou se transformava numa borboleta esvoaçando para a liberdade, ou morreria na refrega. A raiva incontida fê-la ganhar nova energia, emergindo da extenuante travessia do imenso deserto de solidão por onde andarilhava em caminhos de silêncio.
Precipitou-se para o telefone e ligou a Arengas a fim de marcar um encontro urgente.
Entretanto, o coronel Carolino regressou à António Maria Cardoso. Dirigiu-se ao gabinete do Capitão José Amorim. Hesitou com medo das respostas que podia receber e, por instantes, ficou em silêncio à procura das palavras certas. O outro observou-o com curiosidade.
– Que se passa, senhor coronel? Perdeu a língua?
– Fiz aquilo que me pediu. Não matei a minha mulher.
– Uma atitude inteligente. Ela pode ser a nossa Mata Hari junto da Polícia Criminal. Não a maltrate, senhor coronel. Estimule-a a ser um dos nossos informadores.
– Assim o espero. – Atalhou para o interpelar com rispidez: – Como é que soube que ela tem um caso com esse tal Agente da PIC?
Amorim abriu os braços e, com um sorriso de satisfação, retorquiu:
– Nós sabemos tudo, coronel. Ninguém espirra em Viana do Castelo, ninguém tem um ataque de tosse em Vila Real de Santo António, em nenhuma vila, em qualquer cidade, diria mesmo, em qualquer buraco do nosso País, sem que a Polícia de Vigilância do Estado não saiba quem espirrou ou quem tossiu. – Soltando uma gargalhada, rematou: – Somos o olho cintilante que Deus criou para proteger Sua Excelência na sua obra para o engrandecimento do Império.
– Ámen! – Respondeu Carolino. Deu um passo na direção do Capitão, espetando-lhe um dedo no peito.
– Vou ficar à espera que lhe passe a vontade de rir. Depois, vai contar-me como soube. Não julgue que me humilha e se diverte.
Amorim exaltou-se. Afastou-o com um empurrão.
– O que quer de mim, seu corno de merda? Faço-lhe o grande favor de o alertar para o facto de ser corno. Invento o caminho para ter alguma decência, podendo assumir que aceitou esse supremo sacrifício para que a cabra da sua mulher pudesse servir o Estado Novo, e ainda me ameaça?
– Quem mais sabe disto?
– Quem deve saber. Esqueça os chifres. Ignore a dor do ressabiamento. Deixe-a foder à vontade. Toda a gente sabe que o senhor não gosta de mulheres com cio e se baba com crianças nuas. Não o censuro. Cada um procura o prazer como entender. Porém, aproveite o deslize dela para que faça o que deve ser feito. Somos nós que devemos prender os terroristas de que tanto se fala e não os vadios da Polícia Criminal. É esse o seu dever. Entendeu agora ou preciso de lhe fazer um desenho?
Mordeu os lábios, engolindo a arrogância que Amorim vomitava sobre si. Fosse numa unidade militar, metade das provocações de um capitão a um coronel acabariam num tribunal militar. Porém, na PVDE não mandavam as patentes mais altas. Não era um exército. Não havia comandantes, nem subalternos. O poder emanava de quem dispusesse de informação sobre os inimigos do regime. Não era o caso de Carolino, embrenhado em livros de economato. Sobrava-lhe em pesporrência aquilo que lhe faltava em autoridade. Reconheceu, no entanto, que estava encurralado e obrigado a submeter-se à lógica implacável de José Amorim.
Era claro que Albertina podia ser a chave para o sucesso daquela intriga que se levantara contra a credibilidade da polícia política, pondo em causa a prisão do grupo do Alto do Pina. A adúltera, a ímpia, o pecado feito de carne, tinha rasgado a pureza do seu caráter. Cumpria com zelo os seus deveres de marido. Nunca aceitara que ela trabalhasse para a afastar de pensamentos pecaminosos em convívio com gente vinda dos lugares mais recônditos e, muitos deles, vermelhos por fora e por dentro. Apresentara-lhe a melhor sociedade de Lisboa, aquela que canonizara Salazar, temente a Deus, onde as mulheres eram exemplo de devoção aos seus maridos. Admitia que lhe desagradavam beijos e abraços que ela, no início, procurava, assim como não sentia qualquer fascínio sexual pelo seu corpo. Mas Albertina deveria ter reconhecido que nem ela nem qualquer outra mulher o seduzia. O verdadeiro amor não procura o prazer nos corpos, naquela sujidade imunda onde se mistura saliva, baba, risos alarves, gemidos animalescos, gritos, numa doentia comunhão que nada tem a ver com a alma e se resume à banalidade do coito obsceno, sem a pureza santificada que habita a contemplação. Como ensinam as Sagradas Escrituras e todos os profetas da imortalidade das almas. Albertina trocara-o pela líbido dos heréticos. Era pecado maior que não podia ficar sem castigo. Que se fizesse como José Amorim pedia. Na verdade, prender inimigos de Sua Excelência era obrigação suprema. Tudo o resto viria depois.
Noutra colina da cidade, sob o arvoredo do miradouro do Jardim do Torel, o Agente Arengas bufava. A história que acabara de escutar dos lábios e das lágrimas da sua amada deixara-o transtornado.
– O teu marido é um nojo. Em vez de te falar em separação, divórcio, sei lá!, quer fazer de ti informadora da polícia política!?
– É de mais para mim. Acabou a espera. Amanhã embarco para o Porto. Esta noite terei com ele uma conversa definitiva e salto do inferno em que se transformou a minha vida. – Desabafou Albertina.
– Tens a certeza de que essa conversa não vai ser perigosa para ti? – Perguntou Arengas, preocupado.
Ela continuou a explicar-se:
– Não será. Ele disse que não me matava porque é mais importante aquilo que tu me possas contar sobre essa bomba contra Salazar. Maldita bomba! Maldito Salazar!
Arengas afagou-lhe o rosto.
– Se fugires, ele põe os cães da polícia política atrás de ti. Vais seguir o meu conselho.
– Qual conselho? – Perguntou, desconfiada.
– Vais fazer o jogo dele. Sabemos que existem dois suspeitos que andam a monte. O meu Chefe até pensa que eles já não estão em Portugal. Um deles fugiu para Barcelona, onde combate contra as tropas de Franco. O outro foi para Paris.
– Não percebo o teu raciocínio. O que faço? Vou dizer-lhe que os terroristas fugiram para o estrangeiro? O que ganho com isso?
– Ganhas tempo. Não lhe dizes onde estão. Apenas que fugiram e que a Polícia Criminal anda à procura deles. Com esta informação vão largar todas as feras da polícia política à caça dos fugitivos e levar alguns dias até perceberem que não estão no país. É o tempo de que necessitas para sair de Lisboa ao encontro com a tua irmã.
– Vou ficar sem ti. – Soluçou Albertina.
– Por pouco tempo, minha querida. O Chefe garantiu que a minha transferência para o Porto vai ser autorizada assim que terminar o processo do atentado. Sei que faltam poucos dias, pois o Diretor está a fazer o relatório final.
Ficaram em silêncio. A tarde escorria, mansa, pelas ruas da cidade. Na encosta em frente, as ruínas do Convento do Carmo assinalavam a tragédia que Lisboa vivera há quase duzentos anos e, mais à esquerda, a Praça do Comércio abria-se às águas luminosas do rio, cruzadas por barquinhos que, vistos daquele jardim, pareciam ser de papel.
Albertina levantou-se de chofre e proclamou com energia:
– O folhetim do meu casamento chegou ao fim. A verdade é que já não me importa a felicidade. Apenas quero voltar a sentir-me um ser humano. Estou suja por dentro e por fora. E farta! Mil vezes farta desta representação que me fez perder o sentido da vida. Tens razão naquilo que dizes. Não vou fugir às escondidas. Preciso de lhe falar olhos nos olhos. Diz-me o que devo contar-lhe. Preciso de um dia, apenas mais um dia, para arrumar as minhas coisas e partir.
– Tens um lápis e um bocado de papel? – Perguntou Arengas.
Abriu a malinha de mão. Puxou de uma folha dobrada e procurou um lápis. O Agente ditou algumas informações que Albertina escreveu com manifesto nervosismo.
De súbito, o rapaz parou, questionando-a com visível ansiedade.
– Ele não te irá tratar mal?
– Se o fizer, pouco importa. Será a última vez.
– Tenho medo por ti, Albertina.
Afagou-lhe a mão com um sorriso triste e retorquiu:
– Não tenhas. Hoje será o primeiro dia da minha redenção.
– Já não te volto a ver? – Perguntou.
– Espero por ti no Porto. Demora o tempo que demorares. Foste o único homem que sempre me tratou com decência.
– Tu é que fizeste de mim um homem diferente. Amo-te!
Abraçaram-se, emocionados. Indiferentes a quem passava, procuraram os lábios um do outro num beijo longo e doce, comungando de um estranho sentimento que misturava pertença e paixão.
Albertina afastou-se com um ligeiro aceno de despedida.
– Fico à tua espera. – Ciciou.
– Não tardarei, minha querida. Não tardarei. Tem cuidado contigo, meu amor.
Ela deixou-lhe um último sorriso e, apressada, desceu as escadinhas que desembocam na Rua de São José.
Ficou a vê-la a afastar-se, cenho carregado de preocupação. Quem por ele passasse, estranharia aquele homem, feito estátua, escorrendo pelo rosto grossas lágrimas de aflição.
Entardecia. Absorta nos seus pensamentos, Albertina não deu pelo tempo de viagem. Precisava de ser calculista e responder à hipocrisia dele com sinceridade ditada pelo coração. Não conseguiria entrar na farsa que Carolino lhe propusera e que se tornaria num processo continuado de chantagem. Ou trazes informações ou morres! Subiu as escadinhas de acesso à porta da residência com o guião bem desenhado e entrou.
O marido estava à sua espera, de pé em frente ao retrato de Salazar, meditabundo, enquanto saboreava um charuto. Sentiu-se tomada por um pânico repentino quando ele, sem deixar de olhar a fotografia, a interpelou:
– Fizeste aquilo que te mandei?
Atabalhoadamente, abriu a malinha de mão à procura do papel onde escrevera as indicações ditadas por Arengas.
– Sim. Acho que fiz. Encontrámo-nos no jardim.
– Não me interessam esses pormenores ordinários. – Cortou, sibilino, e voltou-se, autoritário, para ela, perguntando: – O que soubeste do teu amiguinho?
Foi aquela postura majestática que devolveu o sangue-frio a Albertina, que começou a representar.
– Até apontei para não me esquecer. – Começou a ler o escrito:
– Prenderam vários homens. Fizeram dez buscas e...
Carolino retirou-lhe bruscamente a folha das mãos, observando minuciosamente as notas.
– Só isto?
– Que não tem acesso aos resultados do processo. É um juiz que faz a investigação com um dos seus colegas, fechados numa sala. Só de vez em quando cumprem ordens para serviços que o resto da Brigada deve fazer na rua, como essas buscas e essas prisões, e estão proibidos de falar com os detidos.
– Raios! – Exclamou o coronel, irritado.
Sentiu que chegara o momento de espicaçá-lo.
– Disse outra coisa. Os principais terroristas estão fugidos.
– Quem? Quem são eles?
– Os nomes estão aí no papel. Um deles chama-se Sequeira e o outro é o Silva da Madeira.
Carolino tornou a olhar para as anotações com redobrado interesse.
– Tens a certeza?
– Foi o que ele me disse. Os dois mais importantes estão em fuga e a Polícia deles anda desesperada para os prender.
Os olhos do coronel brilharam de entusiasmo. Dirigiu-se rapidamente para o telefone e levantou o auscultador, impaciente para ouvir a voz da operadora. Suspirava e tamborilava com os dedos no móvel, impaciente.
Quando escutou a voz a pedir a ligação, ordenou com rispidez a Albertina:
– Sai daqui. Isto não são conversas para serem ouvidas por mulheres.
Ela baixou a cabeça, dirigindo-se rapidamente para a cozinha ainda escutando o início do telefonema. Embora tenha passado anos a testemunhar os humores do marido, continuava a ficar surpresa pelo modo como ele, num instante, abandonava a compostura autoritária para se transformar no mais servil dos escravos.
– Peço perdão a Vossa Excelência, Senhor Diretor-Geral. É Carolino quem fala. Tenho uma informação importante. Melhor dizendo, importantíssima, para entregar a Vossa Excelência. Onde? Claro, claro que sei. É a cinco minutos da minha casa. Vou imediatamente, Senhor Diretor-Geral. Até já! Com a licença de Vossa Excelência.
Desligou. Tornou a conferir o papel que ela lhe entregara, agarrou no chapéu e na gabardina, saindo disparado para o encontro que acabara de marcar com Agostinho Lourenço.
Ofegava da corrida quando entrou no automóvel do Chefe, parado junto ao Trindade. A Rua da Misericórdia pesava-lhe nos sapatos e precisou de algum tempo para recuperar o fôlego.
– Que novidades são essas, coronel?
– Grandes, Senhor Diretor-Geral. Bem grandes. Olhe para aqui, se fizer o obséquio, e adiantou-se à leitura, pormenorizando as novidades que acabara de receber.
– O juiz Alves Monteiro e a Polícia de Investigação Criminal fizeram várias prisões, mas não conseguiram deitar as mãos àqueles que consideram cabecilhas do atentado contra Sua Excelência: o Silva da Madeira e esse tal Sequeira. Podemos tentar prendê-los, salvando a honra da nossa nobre corporação.
Agostinho amachucou o papel, visivelmente agastado, e interpelou-o:
– Era esta a notícia importante?
– E não é? – Ripostou, surpreendido.
– Deixe-se de merdas, Carolino. A sua mulher encorna-o de várias maneiras. Ora salta para cima do Agente Arengas, ora lhe passa informação falsa. Conhecemos estes dois ordinários há muito tempo. Um é anarquista e o outro é reviralhista. O Silva da Madeira está em Paris e o anarquista combate, em Barcelona, no exército republicano contra as tropas patrióticas do General Franco. – Jogou o papel fora e disparou a bala assassina: – Até o Alves Monteiro sabe disto!
– Não é possível. Mas ela trouxe estas notas.
Agostinho carregou com crueldade:
– Não tem vergonha de ser toureado desta maneira? Ela passa-lhe falsas informações para o entreter, enquanto anda a comer o homem da PIC. Saia do meu carro. O jantar e a família estão minha espera, não tenho tempo para aturar os truques da sua mulher.
Trôpego, com dificuldade em respirar, deixou-se cair nas escadinhas de acesso ao teatro, abrindo a gravata e o colarinho. Naquele dia, desmoronara-se a sua alma. Veio-lhe à cabeça o sofrimento de Dante na descida ao Inferno. O leão e a loba ameaçavam-no de morte eterna ao transpor o monte e não tinha a seu lado o poeta Virgílio para o conduzir na direção certa, no caminho para Deus. Desde o momento em que José Amorim lhe revelou a malvadez de Albertina que sobre si caíam raios de trovões imponentes, punhais enterravam-se-lhe na alma, lançados pelas mãos de demónios, destruindo num só dia o homem que jurara fidelidade eterna a Salazar.
Um transeunte ainda parou ao perceber a prostração em que Carolino se encontrava.
– Precisa de ajuda?
Afastou-o com um aceno.
– Estou bem. Estou bem.
Não descortinava uma única razão para que Deus lhe enviasse tamanho castigo. Nem Job fora submetido a tão cruel sofrimento. O mais submisso dos servos do Senhor, o imaculado apoiante do Estado Novo, estava desesperadamente vencido, vestido de infâmia, mergulhado no gelo eterno do Nono Círculo do Inferno, tendo Judas como companheiro. Não reconhecia qualquer pecado por si cometido que o obrigasse a acompanhar Dante e Virgílio pelos caminhos do horror.
Com a chegada da noite, uma aragem fria galgava a Rua do Alecrim, entrava pela gabardina do coronel, mas não lhe arrefecia o corpo transpirado pela dor, donde a alma soltava urros de raiva.
Quando se ergueu, a decisão estava tomada. Nem que tivesse de comer as próprias entranhas haveria de sair daquele dia infernal de honra lavada. Escolheu o caminho mais longo para regressar a casa. Subiu à Travessa de São Pedro para descer lentamente a Rua da Rosa. Uma voz interior alertava-o para ser necessária serenidade. Um gesto irrefletido e seria o primeiro de muitos dias de indignidade. Caminhou indiferente ao ruído que saía das tabernas, mal iluminadas, atafulhadas de estivadores, funcionários públicos, jornalistas e eguariços. Discutiam aos gritos e nas casas de passe atarefavam-se matriculadas a receberem marujos e escriturários. Trinados surdos de guitarra sussurravam nas vielas.
Carolino caminhava alheado da vozearia. De chapéu descaído sobre o rosto, mãos nos bolsos da gabardina, a cabeça saltitando entre o ódio e a razão. Revia Sherlock Holmes e a impossibilidade do crime perfeito. O detetive inglês encontrava sempre um vestígio, mesmo que não passasse de uma simples frase descuidada, para chegar à relação entre assassino e vítima. Confortava-o a ideia de que em Portugal não existia investigador com aquela lucidez invulgar e, além disso, a demência da ira incitava-o a uma conclusão ambígua. Seria necessário não deixar provas e, por outro lado, saber-se que foi ele quem fez justiça.
De súbito, esboçou um sorriso. Seis passadas depois, não conteve uma gargalhada. Parou, por momentos, para rever o plano e ergueu o olhar ao céu escuro de Lisboa num agradecimento. Na verdade, reconhecia agora, ao ver a luz, que aquele maldito dia fora enviado por Deus para superar o sofrimento e alcançar o transcendente. Tomou a decisão de voltar ao Livro de Job com maior atenção e irrompeu pela sala, onde Albertina o esperava para jantar.
Abriu os braços, rodopiou como se dançasse uma valsa e ela, inquieta, perguntou:
– Está tudo bem?
– Claro que sim, minha querida! O Senhor Diretor-Geral ficou radiante e grato. É uma inteligência superior, aquele homem. Arguto como uma raposa. Não! Melhor, como um lince. Não! Um lobo. É mais um lobo a liderar uma alcateia. Tirando Sua Excelência, que Deus guarde por muitos e bons anos, é a cabeça mais prodigiosa do Estado Novo. Nem o António Ferro lhe chega aos calcanhares.
Beijou-lhe a testa e sentou-se com largos gestos teatrais. Pendurou o guardanapo no colarinho e debruçou-se para cheirar a vitela estufada.
– Parece estar esplêndida! – Comentou, enquanto se servia.
– Serviu de alguma coisa a informação que te trouxe? – Perguntou, receosa.
– Um espetáculo! És uma verdadeira heroína. A nova Padeira de Aljubarrota. A Mata Hari lusitana. O Senhor Diretor-Geral ficou comovido pelo teu sacrifício e disse-me: coronel, o senhor não casou com uma mulher. Tem ao seu lado um anjo. Um verdadeiro anjo!
Albertina forçou um sorriso e começou a comer em silêncio.
Carolino, pelo contrário, não se calava. Elogiou o vinho, tornou a aplaudir o estufado, ficou desvanecido com o leite-creme, enquanto alinhava profecias sobre o futuro esplendor de Portugal. Citou Camões, regressou ao seu poeta de estimação, António Sardinha, o visionário integralista que chegara bem mais longe na ideia sobre a Pátria que a História escolheu para iluminar a humanidade. Dissertou sobre o Quinto Império e brindou a Fernando Pessoa.
Albertina manteve-se calada durante aquele arrebatamento descontrolado do marido. Era normal a euforia nacionalista e acreditou que as informações que Arengas lhe passara tinham apaziguado a fúria. Esperava o fim do jantar para lhe anunciar a sua partida para o Porto.
Carolino pousou a chávena do café, tirou o guardanapo do peito, arrotou com franqueza e declarou com pompa:
– O jantar estava fabuloso, minha querida. Que não haja dúvidas. És uma verdadeira fada do lar. Bem dizia o teu saudoso pai, que Deus tenha em descanso, que eu não ia receber uma esposa, mas uma verdadeira deusa!
– Ainda bem que gostaste. Tenho um assunto muito sério para falar contigo.
– Um assunto sério!? Agora? Depois deste magnífico momento? Estou cheio!
Carolino afagou a barriga e levantou-se de um salto.
– Hoje, não, minha querida. O dia começou mal, ao saber da tua infidelidadezinha. Não gostei, mas compreendi os motivos para esse pecadozinho que já perdoei.
– Carolino, eu... – Tentava resistir à retórica alucinada porém, ele não desarmava.
– As informações que trouxeste galvanizaram o Senhor Diretor-Geral, trouxe-me grande alegria os elogios que nos fez, a PVDE conhece os dois fugitivos e vai prendê-los. O prestígio da nossa corporação sai ileso desta barafunda do atentado contra Sua Excelência e eu estou feliz, Albertina, sabes que mais? Vamos dar uma volta. Preciso de andar para fazer a digestão. Sentir a poesia da noite. Vamos passear junto ao rio. Com este luar é um verdadeiro manto de prata.
– Não me apetece sair e precisamos de ter uma conversa importante.
Carolino já vestia a gabardina e pegava no casaco dela.
– Amanhã teremos essa conversa que tanto desejas. Hoje é noite de celebração. Vamos ver o mar! – E desatou a recitar: Ó mar salgado, quanto do teu sal/ São lágrimas de Portugal/ Por te cruzarmos, quantas mães choraram...
– Espera. Escuta-me por favor! – Gemia Albertina, contrariada, e ele, eufórico, ribombava:
– Quantas noivas ficaram por casar/ Para que fosses nosso, ó mar!/ Valeu a pena? Tudo vale a pena/ Se a alma não é pequena.
Desistiu. Fosse como fosse, iria confrontá-lo com a decisão que já tomara. Quando o via entrar naquele estado de alucinação, sabia que nada mais havia naquela cabeça delirante a não ser a fé no destino de Portugal e do Império. Acomodou-se no carro, em silêncio, descuidada de outros motivos para aquela viagem noturna, escutando-lhe os desabafos poéticos.
– E agora, respeitáveis cavalheiros e gentilíssimas damas, de António Sardinha, Versos do trinco da porta,/Louvado seja o Senhor!/A casa é Deus quem ma guarda,/Ninguém a guarda melhor.
Deixou de o ouvir para se refugiar nos seus pensamentos, enquanto o automóvel tomava a Ribeira em direção a Algés. Confiara no pai e nos conselhos da mãe, embora não fosse do seu agrado casar. Diziam eles que era o melhor futuro para uma menina educada como ela e conseguir um bom casamento seria uma bênção dos céus. Aquele jovem oficial tão esmerado e gentil, era uma graça que lhe ofereciam. Até se falava que brevemente ia ser promovido a coronel devido à sua galhardia no 28 de Maio. Aceitou a contragosto. Carolino agradava-lhe, é certo. Mas não sentia o desvanecimento do amor que lera nos romances mais belos da sua adolescência. Não sentia o ardor emocionado de Julieta por tanto desejar Romeu Montecchio. Nem a paixão de Isolda por Tristão. Não sentia nada que se parecesse com a loucura de Pedro por Inês. Na verdade, pensava, casou para não desiludir os pais, descuidada de si mesma. E a vida trouxera-lhe apenas indiferença e solidão.
Tão habituada estava aos devaneios de Carolino que nem se apercebeu de que os versos eram cada vez mais negros. Recitava Soares dos Passos quando estacionou o automóvel junto à praia de Algés: Mulher formosa, que adorei na vida/E que na tumba não cessei d’amar/Porque atraiçoas, desleal, mentida/ O amor eterno que te ouvi jurar?
Saiu da viatura para não suportar a lengalenga, olhando a Trafaria, que luzinhas frágeis anunciavam na outra margem do Tejo, sem reparar que Carolino torneava o automóvel, surgindo-lhe pelas costas. Sobressaltou-se com o barulho e ficou paralisada. Deixara cair a máscara e no rosto estampava-se uma ferocidade inaudita. Só percebeu a dimensão da armadilha que ele montara, quando viu a pistola apontada à cabeça.
– Julgaste-me um tonto e desonraste-me. Traíste os votos que fizeste perante a Santa Madre Igreja. Traíste o teu marido, a nossa Pátria, o nosso Deus.
– Perdoa-me, eu não queria que fosse assim. Perdoa-me! – Suplicou, estarrecida.
– Não tenhas o atrevimento de pedir perdão daquilo que é imperdoável. Puta ordinária, mil vezes herege!
– Carolino... – Balbuciou, mas ele já não a ouvia, tal era a fúria, e proferiu o juízo final:
– Nem Deus te pode perdoar tamanho pecado!
E disparou.
Albertina caiu morta, com a cabeça desfeita pelo projétil. Por instantes, olhou o cadáver. Ainda não esgotara a raiva e disparou todo o carregador contra o corpo inanimado da mulher.
* * *
Tibornas olhava de soslaio para o Arengas, que, no canto do balcão, bebericava um café, com expressão crispada. Quando a clientela permitiu algum desafogo, aproximou-se dele e picou-o:
– A tua miúda correu contigo?
O Agente pareceu despertar do mutismo e, sem perceber a pergunta, retorquiu:
– O quê? Qual miúda?
– Já não te conheço, c’um cacete!. Eras um pirilampo sempre a mandar vir e, de repente, pareces um padreco saído do seminário. Sisudo, fechado em copas, armado em doutor.
– Tibornas, deixa-me em paz, por favor.
O taberneiro não desarmou.
– Em vez de cantar vitória e festejares, estás para aí encolhido com cara de que toda a gente te deve e ninguém te paga.
Arengas não entendeu.
– Festejar o quê? Qual vitória? Tu embebedaste-te antes de abrir a pocilga?
– É o que corre à boca pequena. Que vocês deram um bigode do cacete na polícia política. Prenderam os tipos que fizeram o atentado contra o Botas e deixaram os bodes à nora.
– Não percebo nada dessa conversa. Cala-te e serve-me mais um café.
Tibornas não desarmou.
– É a primeira vez que tenho orgulho em vocês, c’um cacete! É preciso tê-los no sítio para bandarilhar os bodes. Não se fala noutra coisa, por isso não vale a pena estares com segredinhos aqui com o teu amigo Tibornas, que te atura há não sei quantos anos.
Arengas respondeu com frieza.
– Tibornas, estou demasiado preocupado com a minha vida para alinhar nas tuas coscuvilhices. Não sei do que falas e, mesmo que soubesse, não era contigo que discutiria assuntos dessa gravidade. És coscuvilheiro e fala-barato. Não prestas para segredos. Portanto, serves-me o café ou tenho de ir a outro lado? Está quase na hora de entrar ao serviço.
Não lhe apetecia falar. Estava ansioso por saber novas de Albertina. Desde que a abraçara, nas Escadinhas de São José, que não tinha notícias. Passara a noite em claro, adivinhando como teria sido a conversa com Carolino. Ainda passara duas vezes pela Rua das Salgadeiras, ouvidos alerta para algum grito ou discussão vinda do prédio. Porém, o andar estava às escuras e não se via vivalma na viela. Temia pela crueldade que se escondia dos fatos elegantes e da delicadeza hipócrita de Carolino.
Àquela hora da manhã, imaginava-a a caminho da estação do Rossio, a tomar o comboio para o Porto. Desesperava por ter notícias. Iria esperar pelo início da tarde e ficaria sentado junto ao telefone até que lhe trouxesse novidades.
Terminava o segundo café quando Simão entrou e se dirigiu a ele.
– Vem daí. Temos um homicídio.
– Onde?
– Na praia de Algés. O Chefe está à nossa espera.
Deixou umas moedas no balcão e reparou que Tibornas estava amuado.
Apressaram-se pela Travessa do Torel em direção ao Chefe Pereira dos Santos, que lhes acenava do interior da viatura de serviço.
– Um homicídio, Chefe? Sabe-se quem é? – Perguntou Arengas depois de o cumprimentar.
– O cabo-de-mar viu de longe e não conseguiu explicar. Tem medo dos mortos! – Sentenciou enquanto rodeavam a Escola Médico-Cirúrgica em direção à Rua de São Lázaro.
Não trocaram mais palavras até passar o Cais das Colunas. Pereira dos Santos decidiu fazer conversa quando apontavam ao Rossio.
– Sempre estás decidido a ir para o Porto?
– Agora mais do que nunca, Chefe. Neste preciso momento, estará a viajar para São Bento a mulher da minha vida.
– Quem haveria de prever que o nosso Arengas poderia apaixonar-se? – Gracejou.
– Chegou a hora, Chefe. Estou cansado da folia e perdido por ela. Nunca julguei que pudesse amar assim uma mulher.
Conforme se afastavam do centro da cidade começaram a rarear os automóveis. Simão olhava o Tejo. No cais de Alcântara estava acostado um enorme navio mercante. Por cima dele, dançavam dois guindastes, os quais retiravam volumosos caixotes que os estivadores esperavam de braços levantados para orientar a colocação da carga. Simão magicava sobre o local donde chegara o enorme vapor. Vinha-lhe sempre à memória a tragédia do Titanic e o pai, que repetia quando o apresentava a algum amigo:
– Este que aqui está nasceu no dia em que o Titanic foi ao fundo!
Sorriu de saudade. A meninice já estava tão longe! Os passeios com ele, junto ao rio. As caminhadas até às valas onde pescavam enguias. A conversa com amigos que encontravam nessas longas aventuras.
– Este que aqui está nasceu no dia em que o Titanic foi ao fundo.
Deve ter sido o naufrágio que abalou o mundo de então. O pai contava-lhe a história da imponência do navio, do choque com o icebergue, da multidão que morreu afogada, e rematava quase sempre do mesmo modo:
– Na altura, não liguei muito ao caso. Tu tinhas acabado de nascer. No mesmo dia em que ele foi ao fundo. Há coisas do diabo!!
E ficava a matutar nos caprichos do destino, que matava por um lado e fazia nascer por outro.
Pereira dos Santos encostou o carro fora da estrada e avisou:
– Está ali o cabo-de-mar. Vou falar com ele para saber onde encontrou o cadáver.
Afastou-se enquanto os dois Agentes saíam e Simão aproveitou aquele momento para questionar Arengas:
– Tens a certeza de que a tua ida para o Porto resolve todos os problemas?
– Uma boa parte. Simão, eu não sou capaz de viver sem a Albertina. Vindo da minha boca parece um disparate, mas não é. Juro-te!
– Já imaginaste qual vai ser a reação do marido? A polícia política pode caçar-te em qualquer cantinho do País.
O Chefe fez-lhes sinal para caminharem atrás dele e avançou pelo areal com o marujo que dera o alerta. Seguiram-no.
– Nesta primeira fase, vai para a casa de irmã. Ficamos na mesma cidade, mas vivendo separados enquanto houver ruído. Depois, quando as coisas acalmarem, vamos juntar os trapinhos.
– Ainda bem que tens essa cautela. Fico a torcer por ti.
Os pés enterravam-se na areia, dificultando a marcha, e Arengas protestou.
– Porque é que o Chefe nos pediu que viessemos pelo areal? Dirigem-se ao outro lado da estrada e é ainda longe p’ra caraças! É o que eu digo. Nem o Chefe, nem os bandidos têm pena de nós. Andar na areia cansa.
– És só tabaco. As pernas perderam respeito por ti.
– É verdade. Tenho de fazer umas corridas. – Respondeu, ofegante.
Pereira dos Santos já observava o cadáver quando chegaram junto dele.
– Esta mulher foi fuzilada. Tem vários orifícios de bala na cabeça e no peito. – Comentou para os subordinados.
Não disse mais nada. No mesmo instante, Arengas reconheceu Albertina e gritou, desesperado:
– Albertina! Ó minha querida... Ó minha querida...
Puxou-a para o colo, acariciando-lhe os cabelos e o rosto, num choro convulsivo que deixou atónito o Chefe, sem perceber tão grande tormento. Voltou-se, atarantado, para Simão:
– Ela?.. Ele?...
O jovem agente acenou afirmativamente, enquanto procurava levantar o amigo.
– Vem. Não há nada a fazer. – Sussurrou.
Arengas libertou-se da mão dele e, num salto, pôs-se de pé, gritando:
– Larga-me!
Afastou-se em pranto. Cambaleava em direção ao rio e Pereira dos Santos, ainda não refeito do choque, voltou a perguntar:
– Andavam juntos? Esta é a mulher do coronel Carolino!
Simão evitou a pergunta, informando:
– Estou preocupado com o Arengas. Vou ter com ele.
De joelhos junto à água, com as mãos tapando o rosto, escorriam-lhe lágrimas até ao Tejo. De súbito, soltou um imenso grito, maior do que o rebentar das ondas, assustando duas gaivotas que adejavam à sua volta. E Simão estacou. Sabia que não existem palavras que confortem a morte de alguém que se ama.
* * *
Pereira dos Santos esperava Simão, que regressava da morgue. Ainda não se refizera da surpresa que vivera no dia anterior ao ser confrontado com o desgosto de Arengas. Quando o jovem detetive entrou, apressou-se a questioná-lo.
– Novidades?
– Já terminou a autópsia e era capaz de jurar que sei quem é o assassino.
– O marido. – Concluiu o Chefe.
– Só pode ser. É um crime de fúria. Matou-a com o primeiro disparo dirigido à cabeça. A raiva era tanta que continuou a disparar contra o corpo já sem vida. Nem se preocupou em esconder os vestígios. Encontrámos os cartuchos, os rodados do automóvel, as marcas dos sapatos de ambos. – Comentou Simão.
– Penso o mesmo.
Havia preocupação na expressão de Pereira dos Santos.
– Era só o que nos faltava no meio da confusão criada com a polícia política por causa do processo do atentado contra Salazar. Um alto funcionário da PVDE suspeito de homicídio.
– Aceite o meu conselho, Chefe. Não permita que eles chamem o processo para a António Maria Cardoso. – Pediu Simão com firmeza.
– Não permito, como? – Perguntou Pereira dos Santos.
– Vão querer fazer a investigação para encobrir o Carolino. Esse homem merece ir para a cadeia.
– E tu achas que eu tenho poder para dizer à polícia política: este processo é da PIC e daqui ninguém o leva?!
– Num país tão vigiado é preciso vigiar quem vigia. É um homicídio. Esse coronel vaidoso não vai aguentar quando lhe pusermos diante dos olhos as provas que recolhemos. A lei protege-nos, Chefe.
– Lei? Qual lei? Não sejas ingénuo, Simão. Quem dita a lei é o capricho e a vontade da polícia política. Uma ordem de Agostinho Lourenço desfaz qualquer Código Penal e, até, a própria Constituição. Salazar é o verdadeiro poder, mas só existe, e continuará, enquanto tiver os seus carrascos na António Maria Cardoso.
– Posso ir prendê-lo agora, antes que se decidam por avocar o processo. – Teimou o subordinado.
– Uma tontice. Vais buscá-lo e quem fica preso és tu. Com um estalo de dedos fazem de ti um perigoso inimigo da Pátria e dão-te guia de marcha até ao Tarrafal para apodreceres nos quintos dos infernos.
– Não pode ser assim! – Protestou Simão, contrariado com os obstáculos que o outro colocava. E continuou, alterado: – Vamos ser cúmplices silenciosos deste assassínio? Ficamos quietos, com medo, porque o animal é da polícia política?
– É preciso prudência para dar passos nesse caminho. – Respondeu o Chefe, pensativo.
– Diga quais são os passos e eu dá-los-ei.
– Provas! Até agora só temos indícios.
– Fizemos moldes dos pneus, dos sapatos dele e dos da vítima. Trouxe, da morgue, as balas recolhidas no cadáver de Albertina, estão para perícia os cartuchos que recolhemos no local do crime.
– É preciso encontrar, pelo menos, uma identificação para o podermos interpelar. Não nos vai entregar a pistola para exame balístico e muito menos os sapatos. – Resmungou Pereira dos Santos.
– Os pneus do automóvel! – Concluiu Simão, entusiasmado, e rematou, perentório:
– Esta noite vou fazer os moldes. Ele deixa sempre o carro estacionado no Chiado. Vai bater certo, chefe. Vai bater certo!
Pereira dos Santos chamou-o:
– Simão!
– Sim, Chefe?
– Nem uma palavra sobre esta conversa, nem sobre as nossas suspeitas, com o Arengas. Não tem condições para nos ajudar e pode criar mais conflitos.
O outro assentiu com um gesto de cabeça e saiu, cruzando-se com o Silveira, que vinha informar o Chefe da Brigada de que o Diretor lhe queria dar uma palavrinha.
– Pobre mulher. Pobre Arengas. – Lamentou Simão, deixando-se cair numa cadeira.
* * *
Carolino espreitou o gabinete do Capitão Catela com um sorriso de cumprimento.
– Posso? – Perguntou.
O Secretário-Geral não escondeu o enfado quando o avistou.
– Bom dia, senhor coronel. Estou a trabalhar e...
– Desculpe a intromissão, mas é por um bom motivo. – Interrompeu, enquanto retirava do bolso interior do casaco dois bilhetes. Continuou com emproada retórica: – É minha obrigação moral premiar o homem que resolveu o bárbaro atentado que quase destruiu a vida de Sua Excelência, o nosso Professor Oliveira Salazar. Sei que tem um fraquinho pelo Carcavelinhos e ofereceram-me estes bilhetes para o jogo no próximo domingo com o Sporting. Aqui tem. São seus. Vá ao jogo e divirta-se que bem o merece!
– Isto é um prémio por ter resolvido o caso do atentado? – Perguntou Catela, incrédulo.
– E porque o senhor é um exemplo! São homens com a fibra do meu amigo que garantem que o Estado Novo seja a magnífica obra que todos os dias se revela. Confesso: hoje acordei bem-disposto. Sabe que a vitória, em Espanha, já não escapa ao nosso General Franco? A Península Ibérica vai tornar-se no maior bastião anticomunista do Mundo. Graças a homens do seu calibre! Goze o jogo, Senhor Capitão, e faço votos para que o Carcavelinhos ganhe. Com a sua licença!
Ainda atordoado, olhou os bilhetes e pegou no telefone. Do outro lado, respondeu o Capitão Amorim.
– Não foste tu quem me disse, esta manhã, que a cabra do Carolino tinha aparecido morta em Algés?
Mal tinha pousado o auscultador e já Amorim entrava pelo gabinete com uma folha de papel na mão. Vinha irritado.
– Acabei de escrever ao merdas do juiz que está a inventar novos autores para o nosso atentado. O tipo não me quis ouvir. Tomou declarações a terroristas e a traidores e não me notificou para dizer de minha justiça.
– Vais enviar essa carta?
– Ouve só esta parte! – E leu em voz alta: – Tivesse Vossa Excelência formação militar, onde se aprendem os valores da honra e da virtude, e não estaria a cometer esta sumida afronta à verdade. Juro-lhe pela minha honra que os verdadeiros autores do atentado contra Salazar foram, e são, os indivíduos do grupo do Alto do Pina. O que achas?
Catela encolheu os ombros.
– Não vai adiantar. Segundo as informações que nos chegam, o Alves Monteiro está a terminar o relatório final. Nada do que se lhe diga vai mudar a convicção que já formou sobre o caso.
– Mas tem de ler a posição de um homem de honra! Eu sei, que os ouvi confessar, que foram os meliantes do Alto do Pina – Replicou Amorim, irritado.
– Faz como entenderes. Estou preocupado com a chegada desse processo. Ou muito me engano ou ele vai querer humilhar-nos. Só de falar sobre isto fico mal-disposto. – Mudando de conversa, perguntou: – Que se passa com o Carolino? Ele não sabe que a mulher morreu? Entrou por aqui dentro, mais alegre do que um pardal, e ofereceu-me entradas para ir ver o Carcavelinhos.
– É natural que esteja satisfeito. Aquilo é o que qualquer homem com um pouco de dignidade deve fazer numa situação igual à dele. – Respondeu Amorim com indiferença.
– Matou-a? – Reagiu Catela, boquiaberto.
– Se não foi ele, só lhe fica mal. Era uma cabra! Nem uma informação de jeito conseguiu fazer-nos chegar às mãos enquanto dormia com o vadio da Polícia Criminal.
– O Carolino?! – O Secretário-Geral ainda não se recompusera e acrescentou: – Falaste em suicídio, não foi?
– Disseram-me que a encontraram morta, mais nada. O nosso patrão é que sabe pormenores. Morreu, está morta. Sorte teve o maluco do Carolino, que se livrou da puta.
O Capitão Catela ficou calado. Cenho franzido. Não chegava na melhor altura aquela notícia. A Polícia de Investigação Criminal iria escarafunchar o crime e era bem possível que apontasse as baterias contra Carolino. Seria mais um passo na escalada de tensão, que aumentara significativamente desde que o ministro do Interior lhes entregara o caso da bomba na Barbosa du Bocage.
Não conheciam a investigação liderada por Alves Monteiro. Retiravam conclusões a partir do perfil das testemunhas que ele convocara e das perguntas que fizera aos Agentes que foram depor. Os informadores que polvilhavam a PIC não conseguiam mais do que silêncios, encolher de ombros, e a perturbação de Catela aumentava conforme os dias passavam. Procurando afastar as inquietações, retomou o tema que o fizera ligar para a sala do Capitão Amorim.
– Será que o nosso Diretor-Geral tem pormenores sobre o que se passou em Algés? – Perguntou.
– O nosso Agostinho Lourenço sabe tudo.
Sabia mesmo. A rede tentacular que construíra ao longo de anos entregava-lhe notícias à velocidade da luz e, naquele preciso momento, interpelava o oficial do economato, atento a cada uma das suas emoções. Carolino lacrimejava.
– Uma tragédia, Senhor Diretor-Geral. Uma verdadeira tragédia.
– Aceite as minhas condolências. Era uma mulher muito jovem. – Declarou Agostinho.
– Ela não andava bem. A doença da irmã ou outra coisa qualquer. Não sei. Ela não andava bem. Não sei há quanto tempo que se recusava a rezar o terço comigo, pela saúde do Senhor Professor Salazar. Deixou de rezar e, de repente, dá-se isto. Sai de casa, leva o carro, não diz nada e morre. Matou-se!
Agostinho Lourenço observava-o com intensidade enquanto, pausadamente, saboreava o cigarro. Cínico, questionou-o:
– O que quer que nós façamos?
A pergunta deixou Carolino visivelmente embaraçado.
– Eu? Não sei. Vossa Excelência decidirá.
O Diretor-Geral apagou o cigarro e a voz tornou-se metálica.
– Quer saber o que eu penso? Pois bem. Cheira-me mal esta notícia e ainda cheira pior a sua explicação. Não foi ingénua a informação que recebi. Ou muito me engano ou a Polícia Criminal quer armar-nos uma cilada. Como se trata da morte da sua mulher, tenho a certeza de que estão à espera que fiquemos com o caso, argumentando que pode haver motivação política. – Acendeu um novo cigarro e atirou, sibilino: – Querem forçar-nos a prender um dos nossos homens.
O coronel empalideceu, no entanto, foi com a maior das canduras que perguntou:
– Prender? Qual dos nossos homens? Mas se ela se matou e...
Agostinho Lourenço levantou-se como se uma mola o disparasse contra o interlocutor e gritou:
– Não se faça de mais idiota do que aquilo que é. Tem sido uma estopada aturá-lo há tanto tempo.
– Ó Senhor Diretor-Geral...Vossa Excelência... eu...
– Acabou, Carolino. Acabou! Nem um doido acredita na história que inventou para me contar. Vai escolher e é agora mesmo. Ou apresenta, ainda hoje, o pedido de reforma ou não será a PIC que vai investigar a morte da sua esposa. Seremos nós que prenderemos quem merece ser preso. Está a perceber?
– Senhor Diretor-Geral... – Ia balbuciar qualquer explicação, mas foi interrompido pela violência do grito.
– Está a perceber???
Ficou lívido. A representação teatral que tanto amava, servo de Deus e da autoridade, o orgulho voluptuoso de pertencer a tão magnífica organização, pilar maior do Estado Novo, terminava num precipício negro, transbordando injustiça. Ainda por cima naquela casa onde se abrigava a virtude das verdades inconvenientes moldadas pelo querer dos homens bons. Não fizera mais do que supunha receber em troca. Dar uma versão para a morte de Albertina. A generosidade do seu Diretor-Geral e as ordens do Capitão Amorim para a Censura resolveriam o caso. A fúria do seu superior hierárquico era inequívoca. Não lhe entregava o chapéu que protegera, noutras ocasiões, assassinos, guardiões maiores da castidade do Estado Novo.
– Muito bem. Vou tratar do papel para a reforma. – Balbuciou, levantando-se a custo, e sem conseguir esconder o desgosto disse: – Permita-me, Vossa Excelência que me retire mais cedo. Esta reforma é um verdadeiro golpe no meu coração de patriota.
– Entregue o documento e saia daqui. Não o quero ver mais nesta casa.
Ainda bateu os tacões dos sapatos, meneou a cabeça numa vénia e fez a saudação fascista. Partiu sem dizer uma palavra. Nem correspondeu à saudação do Capitão Amorim quando se cruzaram no corredor.
– Apresento-lhe as minhas condolências e, ao mesmo tempo, o meu apreço!
Carolino, desorientado, nem percebeu o cumprimento.
– Apreço!? Ó meu caro...
– O senhor coronel é fiel à velha tradição portuguesa. A honra lava-se com sangue! – O Capitão colocou-se na posição de sentido e fez-lhe continência: – Sempre às suas ordens, meu coronel!
Carolino esboçou um sorriso de agradecimento e afastou-se.
* * *
Simão entrou na tasca do Tibornas e olhou em volta. Depois dirigiu-se ao balcão e interpelou o taberneiro:
– O Arengas esteve aqui?
– Hoje ainda não pôs cá os pés. Deve estar enfiado numa pensão, a tratar de alguma das manhosas com que anda sempre metido.
– Não sejas ordinário, Tibornas. Quero um café.
Nesse mesmo instante, Frederico aproximou-se dele. Carregava uma pasta volumosa.
– Vou entregar o processo do atentado e lembrei-me de passar pela casa do Arengas. Não mora longe da António Maria Cardoso. Sabes dele?
– Nada. Depois de descobrirmos o cadáver, veio connosco para Lisboa e pediu ao Chefe o dia de folga. Deixámo-lo no Cais do Sodré. Mesmo agora perguntei por ele e não veio para estas bandas.
Mudando de tom, questionou o colega:
– Vais levar o processo à polícia política? Não devia ir para tribunal?
Frederico apontou com o dedo para cima.
– Ordens do Altíssimo! Vou andando. Se souberes alguma coisa, diz-me. O Arengas é um fala-barato, mas tem um coração do tamanho do Castelo de São Jorge.
Saiu e Tibornas aproximou-se de Simão. Serviu-lhe o café, olhou em volta e começou a coscuvilhice em voz sussurrada:
– Como é que é? Estamos em forma ou a tua Polícia está a meter água? Corre por aí à boca cheia que vocês foram chamados para puxar as orelhas aos tipos da secreta por causa do atentado contra o Botas, mas que a coisa não deu em nada. Foram mesmo os comunistas do Alto do Pina que fizeram a coisa.
– Corre por aí à boca cheia, dizes tu. Eu não sei de nada. – Respondeu Simão com secura.
– Digo eu e quem lê jornais. Tens de ler mais. Uma Polícia analfabeta é a vergonha de qualquer Regime político. – O tom era de provocação e o Agente engoliu o anzol, respondendo à letra:
– E um taberneiro que manda bocas sem saber o que diz, faz bem ao Regime?
Tibornas soltou uma gargalhada.
– A malta da polícia política são os maiores. Vocês quiseram meter-lhe o dedo no cu, mas desafinaram. Não valem um caracol. Nem para fazer despesa servem.
Simão interpelou-o com firmeza:
– Já não tens idade para ser uma língua de trapos a dar opinião sobre aquilo que não conheces. Passas a vida a resmungar, a mandar bitaites, a inventar verdades que só existem na tua cabeça. Gostas da polícia política? Vai lá inscrever-te. Eles apreciam tontos como tu e até pagam as informações que lhes deres. Com a tua imaginação para pregar mentiras, se eles acreditarem, vais ficar rico num instante.
Tibornas amuou.
– Bufo, não. Nem quando aqui chegam a perguntar sobre desgraçados que andam a procurar levam troco. Falo a sério, pá! Não posso com eles. Este país só será uma coisa decente no dia em que vocês meterem na cadeia todos os bandalhos da António Maria Cardoso.
– Percebi. És contra o Estado Novo! – Ironizou Simão.
O taberneiro, aflito, apressou-se a desmentir:
– Nem contra, nem a favor. Vamos lá ver se a gente se entende. A minha política é o trabalho. Mas uma coisa é certa, se não fosse a polícia política não havia problemas. Lixam-me a clientela. Todas as semanas fazem uma rusga e lá se vai o negócio de uma noite. Acabar-lhes com a raça, era a melhor coisa que o Botas poderia fazer.
– Abre os olhos, Tibornas! Sem polícia política não haveria Salazar e sem Salazar não haveria polícia política. Portanto, aguenta. O teu problema não é político. É negócio. A PIC não presta porque não faz despesa. A PVDE não presta porque te lixa uma noite de vendas. Ganha tento na língua. Se o pessoal da António Maria Cardoso sabe que te queixas de que estragam uma noite de freguesia por semana, vais acabar por vender copos de vinho no Tarrafal. Põe-te a pau! – Avisou, enquanto deitava uma moeda no balcão para pagar o café.
– Tenho de ir trabalhar, boa noite.
Ia afastar-se, porém, Tibornas agarrou-lhe o braço. Parecia assustado.
– Simão, isto era só uma conversa entre amigos. Tu vê lá.
– Não é de mim que deves ter medo. É da tua língua!
Dirigiu-se ao elevador do Lavra. Apalpou o bolso para confirmar que levava consigo o saco com gesso para fazer o molde do pneu do carro de Carolino e decidiu que, nessa volta pelo Bairro Alto, iria procurar o Arengas. Passara o dia contristado com a descoberta macabra que, pela manhã, rebentara com os melhores sonhos do amigo. Não tinha dúvidas de que a mostra de indícios, espalhados no local do crime, se devia ao sentimento de impunidade que habitava na cabeça do assassino. Tinha como certa a proteção de Agostinho Lourenço e dos seus camaradas de direção.
Quando chegou à Rua das Portas de Santo Antão, percebeu que estava com fome. À direita havia uma tasca galega e entrou. Quanto mais a noite avançasse, mais segura seria a recolha do molde dos pneus do carro. Pediu uma sandes de queijo e um copo de três. A rádio noticiava as grandes vitórias do dia do exército nacionalista espanhol. Bombardeiros italianos despejavam bombas sobre os republicanos, em Barcelona, e o locutor tecia comovidos comentários à bravura dos soldados de Francisco Franco. Desinteressou-se. O Rádio Clube Português desistira de divulgar notícias e caíra de amor por louvaminhas aos franquistas. Divulgava o país e o Mundo segundo o olhar do seu patrão, Botelho Moniz, militar a quem profetizavam promissor percurso político.
O Arengas estaria em casa? Nunca imaginara vê-lo sofrer tanto por uma mulher, pois, na verdade, era célebre por ser saltimbanco de corações. Vivia paixões com o instante de um foguete. Saltitava de amor em amor com o frenesi do beija-flor. Governantes solitárias, criadas de servir vindas do interior, costureirinhas chegadas do litoral, até uma freira, saboreavam nos seus braços o encantamento do amor para sempre. E sempre era do tamanho de uma semana para aparecer mortificado na Brigada, cabisbaixo, lamento redondo na ponta dos lábios:
– Sou um incompreendido. Ao segundo encontro, só falam em casamento! Quem é que disse a esta gente que amar é sinónimo de casar?
A tristeza desaparecia no final da tarde quando reatava a caçada no Jardim da Estrela ou pelo Príncipe Real. Dizia um punhado de disparates que as fazia rir. Achavam-lhe graça e, num segundo instante, caíam-lhe nos braços, perdidas de amor. Até que surgiu Albertina. Ela foi a conversão à dedicação sem limites, à lealdade incondicional, à paixão sem tempo. Albertina transformara-o no mais puro dos amantes e, agora, no mais sofrido dos desesperados.
Simão escutou o assinalar das vinte horas. Decidiu adiar por mais algum tempo a diligência que o levaria ao Bairro Alto. Não era difícil recolher os moldes dos pneus do automóvel de Carolino, embora lhe desse jeito a discrição. Bastava uma única testemunha que o visse para que os alarmes da polícia política disparassem para o converter numa séria ameaça terrorista. Pediu outro copo de três e folheou o PimPamPum, suplemento infantil do jornal O Século, que ficara abandonado sobre uma mesa da taberna. A capa abria com um conto de Isabel Areosa, sobre um cientista distraído, tendo por título Peripécias de Tobias Filósofo. Mais adiante, tomou atenção a outra história da autoria de Maria Archer.
De súbito, sentiu que alguma coisa o incomodava e parou a leitura. A preocupação com Arengas tornava a atormentá-lo. Num impulso, decidiu que iria procurá-lo antes de se dedicar à realização da missão a que se propusera. Atravessou os Restauradores e saltou para o elevador da Glória. Até ao Pátio do Tijolo, onde morava o amigo, não levaria mais de dez minutos.
Ainda havia algum movimento na Rua de São Pedro de Alcântara. Um elétrico chiava a caminho do Príncipe Real e dois carros de praça desciam para o Chiado. Passou por um carreiro que segurava as rédeas de uma parelha de mulas atreladas a uma carreta de madeira, enquanto um ajudante descarregava garrafões de vinho.
Estugou o passo. Com ele cruzava-se gente esquálida, que se projetava em sombras fantásticas ao passar pelos tímidos pontos de luz dos tristes lampiões da iluminação pública. O odor a querosene queimado impregnava as vielas por onde, em cada porta, se viam mulheres a dar fôlego às braseiras que iriam aquecer a noite.
Arengas não estava em casa. Perguntou a alguns vizinhos se o tinham visto durante o dia. Em vão. Deu uma saltada ao Galego, que vendia na Cruz do Souto, lugar onde era habitual o amigo conviver aos fins de semana. Perguntou e não havia rasto. Concluiu que, àquela hora, Arengas ainda chorava a dor pelas ruas de Lisboa e decidiu regressar mais tarde.
Enganava-se Simão. Pelo sangue do amigo circulavam revoltas e vinganças. Depois de secar as lágrimas, caminhou ao longo do rio, regressando ao vadio antigo. Não habitava nele o sentido de justiça que os teóricos do Estado imaginaram. Era velho como a noite, dono de uma memória que se perdia no fundo dos tempos, onde a retaliação era um ímpeto animal. Olho por olho, dente por dente, com quem ferro mata, com ferro morre, eram vértebras da alma do rapaz. Decidira repor a ordem moral donde fora expulsa Albertina, na praia de Algés, quando a raiva mais dolorosa desaguou nas águas do Tejo.
Esperou com a frieza dos leões. Evitou beber, não lhe fugisse aquela tão clara lucidez que armava a determinação para o combate. E estava decidido: havia de matá-lo com a frieza com que se esmaga a cabeça de uma serpente. Evitou os locais onde os colegas o poderiam procurar. Não se aproximou do Torel, clandestinizando-se na agitação da cidade. Desde que fora confrontado com o cadáver da sua amada, Arengas não existia para outro fim. Digerir o sofrimento e esperar a hora em que pudesse sentir a alegria do disparo fatal.
Já anoitecera quando entrou na Travessa das Salgadeiras e, de imediato, viu o automóvel de Carolino. O alento pôs o coração a bater. Sentia as palpitações nos ouvidos, que eram uma espécie de martelo, sincopado, à solta pela cabeça. Sem demora, entrou no edifício vizinho e galgou as escadas, silencioso, até à claraboia, que, no alto, deixava entrar a luz baça que iluminava o ambiente.
Abriu-a cautelosamente e esgueirou-se para o telhado. Nem perdeu tempo a olhar o Tejo, que, àquela hora, parecia iluminado por pirilampos, e escorregou sorrateiramente para a varanda das traseiras do apartamento do homem do qual ia ser carrasco. Deixou-se deslizar silenciosamente sobre as telhas, caindo em surdina na varanda. Viu-o, através da janela iluminada. Sentado, cabisbaixo, empunhava o infeliz terço, de frente para o grande retrato de Salazar. Era um verdadeiro servo do Senhor.
Uma alegria perversa invadiu Arengas. Tateou a segunda janela, através da qual não saía luz, e o trinco abriu com um toque certeiro. Velho ladrão nunca desaprende as artes de abrir portas e janelas, como se os dedos tivessem sido domesticados para a ternura do toque que abre corações. Retirou a pistola do cinto e deixou de se preocupar com o barulho que pudesse fazer. A sua presa estava perto de mais para escapar. Avançou pela sala e desembocou no corredor. Deu mais cinco passos e, à sua frente, estava Carolino. Não revelou qualquer sinal de surpresa quando o viu surgir. Até esboçou um sorriso.
Arengas levantou o queixo e apontou a arma à cabeça do outro. Com um sorriso velhaco, o coronel sussurrou:
– Queres a minha morte? Ela não te vai devolver a puta, além de que a gente da minha Polícia e, até da tua, vão saber que foste tu.
– Não prestas! – Retorquiu Arengas, enquanto puxava o gatilho.
O impacto da bala contra a têmpora direita fê-lo saltar da cadeira, estatelando-se no soalho da sala. Estava morto. Arengas foi rápido. Colocou a pistola na mão direita de Carolino, pressionou-a contra os dedos para lhe fixar as impressões digitais e saiu, ligeiro.
Só abrandou o passo quando entrou na Rua da Barroca. Respirou, aliviado. O frio da noite ajudara-o a ressarcir a fome de vingança. As ruas estavam desertas. O disparo fatal dera-lhe conforto. Apaziguou-lhe a raiva e uma inexplicável onda de júbilo aqueceu-lhe o coração.
Ao virar à esquerda, na Travessa do Poço da Cidade, quase ia esbarrando em Simão.
– Arengas!?
– Simão! O que fazes aqui?
– Fui a tua casa. Desapareceste e temos andado à tua procura. Ainda bem que te encontro.
Simão abraçou-o com ternura e perguntou:
– Como é que estás?
Foi a pergunta do amigo que o fez despertar. A vingança matara-lhe a ira, mas não lhe resolvera o sofrimento. Albertina era agora um imenso vazio, uma tão intensa saudade que se encostou à parede, soluçando, cabisbaixo, lágrimas abundantes, carregadas de solidão.
– Vais ficar aqui. Eu não demoro. Preciso de fazer os moldes dos pneus de um carro e venho ter contigo. São cinco minutos.
– Obrigado, Simão. Preciso de estar só. Depois falamos. – Agradeceu em pranto.
Arengas afastou-se em passo rápido. Simão observou-o durante algum tempo até vê-lo desaparecer na Rua da Rosa, e só depois resolveu a tarefa que o levara até perto do Chiado – recolher moldes do carro de Carolino.
* * *
Maia Mendes soergueu-se na cadeira quando Antero da Luz e Júlio Almeida lhe apresentaram o relatório.
– O Carolino suicidou-se?!
– Ontem à noite. Foi a criada quem telefonou. Estava a dormir. Quando despertou com um barulho que lhe pareceu um tiro ou um foguete, deu com ele, estendido na sala, com a pistola na mão, já morto. Eu estava de saída quando o Júlio recebeu o telefonema. Resolvemos ir lá a casa.
– O Carolino?! – Repetiu o Capitão, ainda não refeito da surpresa.
– Observámos o local. Não houve arrombamento, nem sinais de luta. Estava caído no chão, com a arma na mão, um tiro na cabeça e uma enorme poça de sangue sobre o tapete.
Maia Mendes pegou no relatório e disse-lhes:
– Não saiam daqui até eu chegar. Mais alguém sabe o que aconteceu?
Júlio meneou negativamente a cabeça.
– Saímos da casa do nosso coronel já tarde, fomos dormir e, hoje, viemos diretamente ter com o Senhor Diretor.
– Muito bem. Não saiam daqui e nem uma palavra sobre o assunto.
Saiu entorpecido com a notícia que acabara de receber. Carolino era a última pessoa que imaginaria que pusesse termo à vida. Um narciso gosta tanto de si que julga a sua beleza imortal. Não a destrói a tiros de revólver.
Ia dar a notícia a Agostinho Lourenço quando se cruzou com Amorim.
– O nosso coronel morreu ontem à noite.
Amorim sorriu, bem-disposto.
– O boi?
– Vem comigo falar com o patrão. Talvez sejas necessário para resolver a coisa.
O Diretor-Geral recebeu a notícia com desalento.
– Esse palerma até na morte fez disparate. Têm a certeza de que se suicidou?
– O Antero da Luz e o Júlio Almeida estiveram lá. Ficaram sem dúvidas de que deu um tiro na cabeça.
Ficou em silêncio, olhar fixado na janela do gabinete, enquanto cofiava o bigode. Era evidente para os dois subordinados que não esperava aquele desfecho. Passados alguns momentos, levantou-se e comentou:
– É natural.
Tornou ao silêncio. Encadeava os motivos que conduziram ao ato de desespero. E não faltavam. Em dois dias, soube que a mulher era infiel, golpe que terá sido insuportável para a honra de que fazia tanto alarde. Assassinou-a, para reparar alguns dos danos devastadores que o conhecimento do adultério iria provocar. Na sequência destas ações, ele próprio forçara o coronel a demitir-se do lugar que tanto o orgulhava. De repente, a vida de amor ao Estado Novo ruía com o violento abalo sísmico. Até os mais fortes teriam dificuldades em aguentar a perda da honra e do orgulho.
Finalmente, dirigiu-se a Maia Mendes e a Amorim.
– Nesta instituição não existe gente com problemas. Temos de ser o exemplo para quem trabalha em prol da Pátria, fazendo todos os sacrifícios, mas felizes por cumprirmos o nosso dever. Ninguém se suicida. Ou morre porque Deus o chamou, ou morre em combate.
Amorim concordou.
– Só os cobardes se suicidam!
Maia Mendes ficou à espera sem dizer palavra. Percebia que o chefe ainda não terminara a reflexão.
– Vamos decidir que morreu em combate. – Determinou. Voltou-se para Amorim e interpelou-o. – Terá alguma ideia?
– Podemos pegar no seu trabalho com os postos fronteiriços. Podem ter sido rojos, um comando de republicanos espanhóis que veio expressamente matar o inimigo. Explica o caso e dá força à política oficial de apoio aos exércitos de Franco.
Escutou com agrado a versão apresentada e dirigiu-se a Maia Mendes.
– O Antero e o Almeida são de confiança, não é verdade?
– Fazem parte da nata da nossa Polícia. Ponho as mãos no fogo pelos dois.
– Muito bem. Façam o que têm a fazer.
Amorim interveio.
– Desculpe-me, Senhor Diretor-Geral. Se vamos passar a notícia de que o coronel Carolino morreu como um herói, temos de lhe fazer um funeral com honras.
Agostinho Lourenço pegou na agenda que estava em cima da secretária.
– Faça como entender. Desde que seja rápido e discreto. Amanhã, tenho a primeira reunião marcada para as dez horas. Enterra-se o homem às nove e digam ao Catela que faça o discurso fúnebre na qualidade de Secretário-Geral. Não sou capaz. Sinto um profundo desprezo por soldados fracos.
* * *
No dia seguinte, foi Tibornas quem deu a notícia a Arengas, logo pela manhã, apontando para o jornal matutino.
– Já viste como morrem os heróis? Este Carolino era um homem do cacete! Enfrentou cinco espanhóis, cinco! Despachou três, mas teve azar, coitado! Eram bandidos a mais contra um só homem. Bateu-se como um leão, uma verdadeira fera. Só a polícia política tem homens desta categoria. Digam o que disserem, não há pai para os gajos, c’um cacete!
O rapaz não o escutava. Pegou no café e no jornal e foi sentar-se longe do balcão.
Leu com sofreguidão. O jornal narrava os mais pequenos pormenores do fatídico evento. Que o heroico oficial da polícia política foi apanhado numa emboscada, na Travessa da Trindade, um pouco acima da Brasileira, por um bando de terroristas espanhóis a soldo da República vizinha, para se vingar do homem que protegia as fronteiras de Portugal contra a invasão vermelha. Que ainda conseguira reagir ao assalto, abatendo três dos cinco atacantes. Porém, sucumbiu à desproporção numérica. Que se portara como a nossa Padeira de Aljubarrota até que Deus o recolheu. Que morreu tal como viveu. Mais um nome de um combatente que, agora, cintilava nos céus daqueles que se finaram ao serviço da Pátria e de Salazar.
Releu a notícia e uma profusão de emoções soltou-se dentro de si. Abatido pela dor devido à perda de Albertina, incapaz de soletrar um sorriso, tal era o tamanho da mágoa, ficou aturdido ao ler o relato oficial sobre os acontecimentos em que diretamente interviera, acabando com a existência do miserável que lhe roubara o sonho de felicidade. A história reescrita pela polícia política não aceitava vencidos. O Carolino poltrão, o coronel cobarde, o Diretor incapaz, o servidor pedante de Salazar, o católico pedófilo, tornava-se, na morte indigna, um herói da Pátria.
A indignação que o trespassou, enquanto leu, foi substituída por uma estranha ironia. Afinal, fizera um bom trabalho. Querendo suicidar Carolino, acabou por contribuir para o nascimento de uma referência gloriosa para os vindouros que se interessassem pelos grandes feitos da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado.
* * *
Catela não conseguiu continuar de pé, enquanto o Diretor-Geral lia o processo. As pernas tremiam e a humilhação convertera-se em picadas. Parecia que uma multidão de bichinhos enraivecidos lhe mordiam o estômago e os intestinos. Secava as mãos transpiradas ao forro dos bolsos do casaco e não raciocinava. Era uma morte do pensar, abandonado, servil, à espera da sentença que se aproximava, conforme Agostinho Lourenço avançava vagarosamente pelo crime reconstruído pelo juiz Alves Monteiro. A expulsão da PVDE e o opróbrio estavam ali a ameaçá-lo como fantasmas ávidos de sangue.
Sentou-se no bordo da cadeira, incapaz de erguer os olhos, pregados no chão, lábios frios e ressequidos, encolhido, longe da pose militar, vergado qual escravo depois de castigado a chicote. Subitamente, sem deixar de fixar o processo, o dono da sua vida e da sua desgraça, comentou:
– Este tipo tem piada!
O capitão sobressaltou-se. Julgou chegada a sua hora, no entanto, o chefe continuou a ler sem esclarecer a quem se referia, absorto, sem qualquer sinal de exasperação perante o libelo acusatório contra os seus subordinados.
Catela recebera o processo-crime, remetido pelo maldito juiz, ao entardecer do dia anterior. Nem ousara abrir a pasta para confirmar a correspondência. Disfarçadamente, guardou-o, vestiu à pressa o casaco e correu para casa. Precisava de silêncio, longe da tagarelice dos corredores e das brigadas, para compreender até que ponto a verdade da polícia política era destruída. Ou não. Avisou que não queria jantar, pediu que não o incomodassem e fechou-se à chave no pequeno escritório.
Não demorou muito tempo para perceber que estava a descobrir o seu apocalipse. Cada peça processual continha a marca da Besta e, conforme avançava na leitura, não duvidou de que já era servo daquele que emergira do Quarto Selo. Viu claramente aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte, que anunciava o fim do seu tempo. O Diabo tocara em cada página, trocando verdades aceites por novas verdades inesperadas.
Explodira dinamite. Exatamente dez quilos. Os exames periciais aos vestígios deixados no local do atentado nem admitiam a possibilidade de ser a melanite, que os seus amigos, oficiais de engenharia, lhe tinham garantido estar presente na bomba. O elo sólido que relacionava os terroristas com a União Soviética caía por terra. O material usado era vulgar em Portugal, em pedreiras e no trabalho mineiro. As ondas de choque escoicearam Catela quando leu as confissões dos verdadeiros autores do atentado. Motoristas de carros de praça, serralheiros sem paradeiro certo, anarquistas inconsequentes, unidos por um cimento bizarro, longe de disputas políticas: Todos queriam matar Salazar.
Para agigantar a humilhação, vários dos verdadeiros autores tinham sido presos pela polícia política durante as rusgas que se seguiram ao crime e todos foram deixados em paz, dissimulados na avalanche de detidos, sem que um olhar mais atento tivesse percebido que estavam ali, à mão de semear, sem necessidade de inventar o grupo do Alto do Pina. O juiz fora, com toda a certeza, enviado pelos anjos do Inferno. Mandou escrever todas as torturas, o rol de espancamentos que vomitaram confissões aflitas, e vários dos seus Agentes, verdadeiros traidores da Pátria e do Estado Novo, confirmaram os depoimentos dos réus, revelando o inferno que habitava na António Maria Cardoso.
Não conseguiu pregar olho. Imaginava a alegria de Maia Mendes ao vê-lo preso a tamanha humilhação, os sorrisos irónicos de todos aqueles que duvidavam da sua competência. Escutou todas as badaladas do sino da Igreja de São Roque, marcando as horas do despertar do novo dia, enquanto revia depoimentos, reexaminava minuciosamente cada perícia e, no final, a pragmática Acusação de Alves Monteiro. Era um bloco de cimento. Homogéneo. Coeso. Coerente. Nele viu a trombeta apocalíptica que anunciava o fim da sua vida. Os jornais, que semanas antes glorificavam a PVDE pela rápida prisão dos terroristas do Alto do Pina, a escarnecer de tanta incompetência. A ira de Agostinho Lourenço de dedo esticado, apontando-lhe a porta da rua. As lágrimas queimaram-lhe as faces ao adivinhar a desilusão do Professor Salazar. Os murros e os espancamentos dos seus Agentes não conseguiram revelar a verdade. A tortura soçobrava perante a lógica implacável daquele maldito juiz, que, naquelas páginas, escrevia o epitáfio do desesperado Capitão.
O dia da condenação estava a despertar nos chilreios dos pardais no arvoredo do Príncipe Real, enquanto a primeira carroça de recolha do lixo assinalava a sua passagem no passo monótono dos machos. Os matinais raios de sol viram Catela, outrora tão firme e aprumado, transformado num destroço. Nem se cuidou. Ajeitou a gravata, trôpego, deu uns passos para vestir o casaco, guardou o processo na mala e arrastou-se pelas escadinhas do prédio onde morava até à paragem do elétrico.
Ainda hesitou. Assomou-lhe uma vontade angustiada de adiar a entrega do seu próprio auto-de-fé ao Diretor-Geral. Fá-lo-ia somente ao final da tarde, ganharia um dia a mais naquela casa de que tanto se orgulhava, a primeira e mais sólida trincheira de proteção da Pátria, um dos fortins da Cristandade. Como ele costumava dizer aos seus subordinados, a PVDE não fora criada para funcionários públicos. Era o lugar de maior devoção para com Salazar, o pináculo maior que dava sentido à vida, habitado pela religiosidade da fé no homem, o único português mais próximo de Deus. Os seus adversários eram, para a instituição, declarados inimigos de Portugal, o baluarte físico e moral que destruía ambições mercenárias, projetos bolcheviques, a quem dava luta sem quartel por tentarem cortar os caminhos da Verdade e da Vida desenhados por Sua Excelência.
Porém, ao descer na Praça Luís de Camões, a aragem fresca da manhã despertou-o das divagações fantásticas. Sobressaltou-se com um carro de praça que buzinou com insistência para ele sair da rua e nem deu conta do aglomerado de pessoas que, perto da Brasileira, observava um cavalo, atrelado a uma carreta, que se espantara com o cacarejar das galinhas que transportava, provocando uma enorme confusão.
Não tinha dúvidas de que Agostinho Lourenço já saberia que o processo havia chegado. Passara pelas mãos de contínuos e funcionários da Secretaria e a coscuvilhice espalharia a notícia.
Desceu a Rua António Maria Cardoso sem alma. Pressentia que aquele edifício, onde vivia o seu orgulho, se transformava no cadafalso.
De súbito, veio-lhe à memória Egas Moniz e foi com semelhante desprendimento da vida que entrou no gabinete do todo-poderoso patrão da polícia política. Suplicou a Deus que o julgamento e condenação fossem rápidos, queria fugir para qualquer sarjeta de Lisboa, onde pudesse esconder a humilhação.
– Este tipo tem piada! – Repetiu Lourenço.
Catela não reagiu ao comentário, alquebrado e pensativo, observando duas gaivotas pousadas no beiral da janela, enquanto o outro tornava a mergulhar na leitura. Por duas vezes tentara olhar para ele, procurando sinais que não lhe chegavam. Não havia um traço de emoção no rosto hermético, glacial, do Diretor-Geral. Lia e fumava com a tranquilidade dos virtuosos.
Por fim, fechou o dossiê e o coração do Capitão Catela acelerou. Chegara o momento que tanto temia.
– Já leste? – Perguntou-lhe Agostinho Lourenço.
– Já li, Senhor Diretor-Geral. Infelizmente...
– Afinal foi um grupo de anarquistas e de motoristas de carro de praça que colocou a bomba – Comentou com boa disposição e rematou: – O palerma do juiz Alves Monteiro fez um bom trabalho, sim senhor.
Catela apressou-se na penitência:
– O erro foi meu, Senhor Diretor-Geral. Mais ninguém é responsável pelo engano em que caímos. Tudo parecia conduzir para o grupo do Alto do Pina e foi um disparate terrível não ter averiguado outras possibilidades. – Suspirou com estertor e declarou com a voz embargada: – O meu lugar está à disposição de Vossa Excelência.
O interlocutor olhou-o com curiosidade divertida e perguntou:
– Queres demitir-te por causa disto?
– Não vejo outro caminho. Essa investigação da Polícia Criminal destrói o nosso trabalho. É perfeita!
Agostinho Lourenço acendeu um cigarro e replicou secamente:
– Só Deus é perfeito. Este caso não é uma derrota. Pelo contrário, põe em relevo a importância do nosso trabalho.
A autocomiseração de Catela não lhe permitia ver aonde o seu chefe queria chegar.
– É uma derrota vergonhosa, Senhor Diretor-Geral. A minha derrota! Com que cara vamos ficar quando se souber a verdade e libertarmos o grupo do Alto do Pina?! Vai ser um enxovalho.
Agostinho Lourenço deu dois passos na direção do subordinado e quase o censurou com severidade.
– Não olhes para os teus pés! Olha para o horizonte, para o infinito, e deixa a tua vergonha no balde do lixo. Quando se fizer a História deste tempo, ninguém vai querer saber quem cometeu o atentado contra Sua Excelência, nem dos pequeninos triunfos desse juiz palerma. Saber-se-á que, graças a este caso, degolámos várias organizações terroristas que atentam contra o Estado Novo. Destruímos os Comités Local e Regional de Lisboa do Partido soviético, destruímos várias células anarquistas, acabámos com a tipografia do jornal comunista, prendemos dezenas de reviralhistas, bandos de palermas saudosos do Afonso Costa e companhia. A qual enxovalho te referes? Ao que vão dizer os jornais? Tu és tonto, Catela. Os jornais escrevem aquilo que a gente deixar, e quiser, que eles publiquem. Se não olhares para a árvore e conseguires vislumbrar a floresta, faz o balanço final e só retiras uma conclusão: acabámos de prestar um enorme serviço ao Estado Novo e a Salazar.
Perante o silêncio atónito do outro, a voz vomitou o entusiasmo que o dominava:
– Chamas a isto derrota? Temos as prisões a abarrotarem. Recolhemos uma boa colheita de tudo quanto temos semeado. Olha para o horizonte, Capitão Catela. O Chanceler Adolf Hitler está a erguer o Terceiro Reich para durar mil anos. Eu digo-te com orgulho: o Estado Novo vai durar milénios. Até ao final dos tempos, graças à nossa Polícia de Vigilância e Defesa do Estado.
Calou-se. Acendeu novo cigarro e Catela, mais confortado, titubeou:
– O que devo fazer aos presos do Alto do Pina?
– Ficam presos! – Respondeu com indiferença.
– Presos?! Mas eles....
– São comunistas.
– Não sei. Prendemo-los por causa do atentado contra Sua Excelência.
– Aqui dentro sou eu que decido quem é ou não é comunista. Ficam detidos e não há mais nada para discutir.
Deu por finda a conversa, indicando-lhe a porta e rematando com um convite.
– Diz ao Maia Mendes e ao Pessoa Amorim que hoje são os três meus convidados para almoçar. É tempo de celebração e não de apresentares a demissão. Percebeste?
– Muito obrigado, Senhor Diretor-Geral. Não sei como agradecer a sua lição. É uma honra trabalhar sob as suas ordens.
Bateu os tacões em jeito de saudação militar e saiu, impante de satisfação. E naquele momento jurou que, se vivesse mil anos, era ali que desejaria sempre servir, naquele lugar onde se acendia diariamente a chama que fazia brilhar o Estado Novo.
Agostinho Lourenço sabia do que falava. A Polícia de Vigilância e Defesa do Estado abria e consolidava o poder que levaria Portugal e o Império para além do final dos tempos. Até à Eternidade!
Francisco Moita Flores
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















