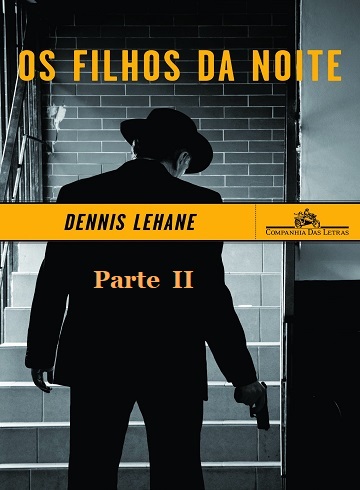OS FILHOS DA NOITE / Dennis Lehane
OS FILHOS DA NOITE / Dennis Lehane
.
.
.

.
.
.
Nenhum dos cinco homens parecia grego. Ou inofensivo. Haviam pendurado os paletós no encosto das cadeiras, deixando ver as armas enfiadas no cós das calças. Quando Joe, Dion e Paolo entraram com as pistolas em riste, nenhum deles fez menção de sacar a arma, mas Joe pôde perceber que um ou dois cogitaram fazê-lo.
2
3
“A gente podia ir embora”, disse Emma.
4
Os dois homens que Joe havia encontrado no lago foram identificados como Donald Belinski e Virgil Orten. Ambos haviam deixado esposas. Orten deixara também dois filhos. Após estudar suas fotos por algum tempo, Joe concluiu que Orten era o que estava ao volante e Belinski, o que havia apontado o dedo para ele da água.
5
6
7
8
9
10
PARTE II
11
“Você o conhecia bem?”
12
13
O BURACO DO CORAÇÃO
Dion conduziu Joe até seu hotel pela segunda vez, e Joe lhe disse para aguardar até ele decidir se iria ou não passar a noite ali.
O porteiro estava vestido como um macaco de circo, com um smoking de veludo vermelho e um chapéu fez combinando, e surgiu de trás de uma palmeira em vaso na varanda para pegar as malas de Joe das mãos de Dion e conduzir Joe hotel adentro enquanto Dion esperava no carro. Joe fez o check in no balcão de mármore da recepção e assinou o livro de registro com uma caneta-tinteiro de ouro entregue por um francês sisudo de sorriso radioso e olhos mortos como os de uma boneca. Recebeu uma chave de latão presa a um pedaço curto de cordão de veludo vermelho. Na outra ponta do cordão havia um pesado quadrado de metal dourado com o número de seu quarto: 509.
Na verdade, o quarto era uma série de quartos, com uma cama do tamanho do sul de Boston, delicadas cadeiras francesas e uma delicada escrivaninha francesa virada de frente para a vista do lago. Havia um banheiro privativo, sim senhor: era maior do que sua cela em Charlestown. O porteiro lhe mostrou onde ficavam os interruptores e como acender as lâmpadas e ligar os ventiladores de teto. Mostrou-lhe o closet de cedro no qual Joe podia pendurar as roupas. Mostrou-lhe o rádio, cortesia em todos os quartos, e isso fez Joe pensar em Emma e na grandiosa inauguração do Statler. Ele deu uma gorjeta ao porteiro, mandou-o sair e sentou-se em uma das delicadas cadeiras francesas para fumar um cigarro, admirando o lago escuro lá fora e o imenso hotel refletido no espelho-d’água, com seus incontáveis quadradinhos de luz enviesados na superfície escura, e se perguntou o que o pai estaria vendo naquele instante, o que Emma estaria vendo. Será que podiam ver a ele? Será que podiam ver o passado, o futuro, ou vastos mundos muito além da sua imaginação? Ou será que não viam nada? Porque eles não eram nada. Estavam mortos, eram pó, ossos dentro de uma caixa, e os de Emma nem sequer estavam conectados uns aos outros.
Temeu que fosse apenas isso. Não, não fez apenas temer. Sentado naquela cadeira ridícula, olhando pela janela para as janelas amarelas oblíquas refletidas na água negra, teve certeza. Ninguém morria e ia para um lugar melhor; aquele era o melhor lugar, porque você não estava morto. O paraíso não ficava no meio das nuvens; o paraíso era o ar dentro dos seus pulmões.




Biblio VT




PARTE I - BOSTON 1926-9
UM ESTRANHO NO NINHO
Alguns anos mais tarde, a bordo de um rebocador no golfo do México, os pés de Joe Coughlin foram mergulhados em uma banheira de cimento. Doze atiradores esperavam a embarcação se distanciar o suficiente da costa para jogá-lo no mar enquanto ele escutava o resfolegar do motor e via a água revirada embranquecer na popa. Ocorreu-lhe então que quase todas as coisas dignas de nota que haviam acontecido em sua vida — fossem boas ou ruins — tinham sido postas em movimento naquela manhã em que seu caminho cruzara pela primeira vez o de Emma Gould.
Os dois se conheceram pouco depois do raiar do dia, em 1926, quando Joe e os irmãos Bartolo assaltaram o salão de jogos nos fundos de um bar clandestino de Albert White no sul de Boston. Antes de lá entrarem, Joe e os Bartolo não faziam a menor ideia de que o bar pertencesse a Albert White. Se fizessem, teriam batido em retirada em três direções distintas de modo a dificultar ao máximo que seguissem seu rastro.
Descer pela escada dos fundos foi bem fácil. Passaram sem incidentes pela área vazia do bar. O bar e a sala de jogos ocupavam os fundos de um armazém de móveis no cais do porto que Tim Hickey, chefe de Joe, garantira pertencer a uns gregos inofensivos recém-chegados de Maryland. Ao adentrar a sala dos fundos, porém, os três se depararam com uma partida de pôquer em pleno andamento, com os cinco jogadores bebendo uísque canadense em pesados copos de cristal encimados por um tapete cinza de fumaça. Uma pilha de dinheiro ocupava o centro da mesa.
UM ESTRANHO NO NINHO
Alguns anos mais tarde, a bordo de um rebocador no golfo do México, os pés de Joe Coughlin foram mergulhados em uma banheira de cimento. Doze atiradores esperavam a embarcação se distanciar o suficiente da costa para jogá-lo no mar enquanto ele escutava o resfolegar do motor e via a água revirada embranquecer na popa. Ocorreu-lhe então que quase todas as coisas dignas de nota que haviam acontecido em sua vida — fossem boas ou ruins — tinham sido postas em movimento naquela manhã em que seu caminho cruzara pela primeira vez o de Emma Gould.
Os dois se conheceram pouco depois do raiar do dia, em 1926, quando Joe e os irmãos Bartolo assaltaram o salão de jogos nos fundos de um bar clandestino de Albert White no sul de Boston. Antes de lá entrarem, Joe e os Bartolo não faziam a menor ideia de que o bar pertencesse a Albert White. Se fizessem, teriam batido em retirada em três direções distintas de modo a dificultar ao máximo que seguissem seu rastro.
Descer pela escada dos fundos foi bem fácil. Passaram sem incidentes pela área vazia do bar. O bar e a sala de jogos ocupavam os fundos de um armazém de móveis no cais do porto que Tim Hickey, chefe de Joe, garantira pertencer a uns gregos inofensivos recém-chegados de Maryland. Ao adentrar a sala dos fundos, porém, os três se depararam com uma partida de pôquer em pleno andamento, com os cinco jogadores bebendo uísque canadense em pesados copos de cristal encimados por um tapete cinza de fumaça. Uma pilha de dinheiro ocupava o centro da mesa.
.
.
.

.
.
.
Nenhum dos cinco homens parecia grego. Ou inofensivo. Haviam pendurado os paletós no encosto das cadeiras, deixando ver as armas enfiadas no cós das calças. Quando Joe, Dion e Paolo entraram com as pistolas em riste, nenhum deles fez menção de sacar a arma, mas Joe pôde perceber que um ou dois cogitaram fazê-lo.
Uma mulher servia as bebidas à mesa. Ela pousou a bandeja, pegou seu cigarro em um cinzeiro, deu uma tragada e pareceu prestes a bocejar na mira de três armas. Como se fosse pedir para ver algo mais impressionante no bis.
Joe e os irmãos Bartolo usavam chapéus bem enterrados na cabeça para esconder os olhos, e lenços pretos lhes cobriam a metade inferior do rosto. Uma sorte, pois se alguém daquela sala os reconhecesse lhes restaria mais ou menos metade de um dia de vida.
Brincadeira de criança, tinha dito Tim Hickey. Ataquem no amanhecer, quando não vai haver mais ninguém lá a não ser um par de imbecis contando dinheiro.
E não cinco capangas armados jogando pôquer.
Um dos jogadores perguntou: “Vocês sabem de quem é este lugar?”.
Joe não reconheceu o cara que falou, mas conhecia o homem sentado ao seu lado: era o ex-boxeador Brenny Loomis, integrante da máfia de Albert White, o maior rival de Tim Hickey no contrabando de bebidas. Os boatos mais recentes diziam que Albert estava estocando metralhadoras Thompson para uma guerra iminente. A notícia havia se espalhado — tem que escolher um lado, não pode ficar em cima do muro.
“Se todo mundo se comportar direitinho, ninguém vai sofrer sequer um arranhão”, disse Joe.
O cara ao lado de Loomis tornou a falar. “Porra, seu imbecil, eu perguntei se vocês sabem de quem é esta mesa.”
Dion Bartolo o acertou na boca com a pistola. Acertou-o com força suficiente para derrubá-lo da cadeira e tirar um pouco de sangue. Isso fez todos os outros pensarem no quanto era preferível ser aquele que não estava sendo agredido com uma pistola a ser aquele que estava.
“De joelhos, todo mundo menos a garota”, disse Joe. “Mãos atrás da cabeça, dedos entrelaçados.”
Brenny Loomis cravou os olhos nos de Joe. “Quando tudo isso terminar, moleque, vou procurar sua mãe. Vou sugerir um belo terno escuro para o seu caixão.”
Ex-boxeador da Associação de Mecânicos e sparring de Mean Mo Mullis, Loomis era famoso por ter um soco igual a um saco de bolas de bilhar. Matava gente a mando de Albert White. Não como ganha-pão nem de forma exclusiva, mas dizia-se que, caso algum dia a ocupação viesse a se tornar um cargo em tempo integral, ele queria que Albert soubesse que tinha primazia por tempo de serviço.
Joe nunca havia sentido tanto medo quanto sentiu ao encarar os diminutos olhos castanhos de Loomis, mas mesmo assim usou a arma para indicar o chão, bastante surpreso ao constatar que sua mão não tremia. Brendan Loomis entrelaçou os dedos atrás da cabeça e se ajoelhou. Quando o fez, os outros o imitaram.
“Senhorita, venha cá”, disse Joe para a moça. “Não vamos machucar você.”
Ela apagou o cigarro no cinzeiro e olhou para ele como se estivesse pensando em acender outro, ou quem sabe se servir de outra dose de bebida. Atravessou o recinto na sua direção; era mais ou menos da sua idade, uns vinte anos talvez, tinha olhos invernais e uma pele tão branca que ele quase conseguia ver o sangue e os tecidos que esta recobria.
Ele a observou se aproximar enquanto os irmãos Bartolo recolhiam as armas dos jogadores. As pistolas emitiram baques pesados quando eles as jogaram sobre uma mesa vizinha de vinte e um, mas a moça nem sequer tomou conhecimento. Faíscas dançavam por trás do cinza de seus olhos.
Ela chegou bem perto da pistola dele e disse: “O que o cavalheiro vai querer hoje para acompanhar seu assalto?”.
Joe lhe entregou um dos sacos de lona que trouxera consigo.
“O dinheiro que está em cima da mesa, por favor.”
“É para já, cavalheiro.”
Enquanto ela tornava a cruzar a sala em direção à mesa, ele tirou um par de algemas do outro saco e lançou o saco para Paolo. Este se agachou junto ao primeiro jogador e algemou-lhe os punhos na base das costas, passando então ao seguinte.
A moça recolheu o pote do centro da mesa — Joe reparou que não havia apenas notas de dinheiro, mas relógios e joias também —, e em seguida foi catando as apostas de cada jogador. Paolo terminou de algemar os homens e passou a amordaçá-los.
Joe correu os olhos pelo recinto — atrás dele a roleta, encostada na parede sob a escada, a mesa de dados. Contou três mesas de vinte e um e uma de bacará. Seis caça-níqueis ocupavam a parede dos fundos. Uma mesa baixa com uns dez telefones em cima fazia as vezes de central de apostas, e um quadro atrás dela listava os cavalos do décimo segundo páreo da noite anterior em Readville. A única outra porta além daquela pela qual eles haviam entrado tinha um T de toalete escrito a giz, o que fazia sentido, pois as pessoas precisavam mijar quando bebiam.
Ao entrar pelo bar, porém, Joe tinha visto dois banheiros, número sem dúvida suficiente. E aquele banheiro ali estava trancado com um cadeado.
Olhou para Brenny Loomis deitado no chão, amordaçado, mas mesmo assim consciente do raciocínio de Joe. Joe, por sua vez, teve consciência do raciocínio de Loomis. E então entendeu o que havia entendido assim que vira aquele cadeado: o banheiro não era um banheiro.
Era a tesouraria do bar.
A tesouraria de Albert White.
A julgar pelo movimento dos cassinos de Hickey nos últimos dois dias — o primeiro fim de semana frio de outubro —, Joe desconfiava que atrás daquela porta houvesse uma pequena fortuna.
A pequena fortuna de Albert White.
A moça voltou até o seu lado com o saco de dinheiro do pôquer. “Sua sobremesa, cavalheiro”, falou, entregando-lhe o saco. Ele não conseguia se acostumar com a firmeza daquele olhar. Ela não apenas olhava para ele: olhava através dele. Teve certeza de que a moça era capaz de ver seu rosto por trás do lenço e do chapéu enterrado. Um dia de manhã, cruzaria o seu caminho indo comprar cigarros e a ouviria gritar: “É ele!”. Não teria tempo sequer de fechar os olhos antes que as balas o acertassem.
Pegou o saco e suspendeu o par de algemas com o dedo. “Vire de costas.”
“Pois não, cavalheiro. Agora mesmo, cavalheiro.” Ela virou as costas para ele e cruzou os braços atrás do corpo. Os nós de seus dedos encostaram na base das costas, e as pontas dos dedos ficaram penduradas em frente à bunda, o que fez Joe se dar conta de que a última coisa em que deveria estar se concentrando era na bunda de alguém, e fim de papo.
Prendeu a primeira algema em volta do pulso dela. “Vou ser delicado.”
“Não se incomode por minha causa.” Ela olhou para trás e o encarou por cima do ombro. “Só tente não deixar marcas.”
Meu Deus.
“Qual é o seu nome?”
“Emma Gould”, respondeu ela. “E o seu?”
“Procurado.”
“Por todas as moças ou só pela lei?”
Ele não conseguia acompanhar a conversa dela e vigiar o salão ao mesmo tempo, de modo que a virou de frente para si e sacou a mordaça do bolso. As mordaças eram meias masculinas que Paolo Bartolo havia roubado da Woolworth’s, onde trabalhava.
“Vai pôr uma meia dentro da minha boca.”
“Vou.”
“Uma meia. Dentro da minha boca.”
“Nunca foi usada”, disse Joe. “Eu juro.”
Ela arqueou uma sobrancelha. Esta tinha o mesmo tom de bronze oxidado de seus cabelos, e era macia e lustrosa feito a pelagem de um arminho.
“Eu não mentiria para você”, disse Joe, e sentiu, nesse instante, que estava dizendo a verdade.
“Em geral é isso que dizem os mentirosos.” Ela abriu a boca feito uma criança resignada a tomar uma colherada de remédio, e ele pensou em lhe dizer mais alguma coisa, mas não conseguiu pensar em nada. Cogitou lhe fazer alguma pergunta só para poder tornar a ouvir sua voz.
Os olhos dela tremeram um pouco quando Joe enfiou a meia em sua boca, e ela então tentou cuspi-la — como em geral acontecia — e balançou a cabeça ao ver o pedaço de fita adesiva na mão dele, mas ele estava preparado. Tapou-lhe a boca com a mão e colou as pontas da fita em suas bochechas. Ela o encarou como se até então a interação toda houvesse sido perfeitamente confiável — agradável, até —, mas ele agora a houvesse desonrado.
“É cinquenta por cento seda”, disse Joe.
Outro arquear de sobrancelha.
“A meia”, explicou ele. “Vá para junto dos seus amigos.”
Ela se ajoelhou ao lado de Brendan Loomis, que não havia desgrudado os olhos de Joe nem uma vez durante todo o tempo.
Joe olhou para a porta da tesouraria; olhou para o cadeado que a trancava. Deixou que Loomis acompanhasse seu olhar, e então o encarou nos olhos. Os de Loomis ficaram baços enquanto ele aguardava para ver qual seria o próximo lance.
Joe sustentou seu olhar e disse: “Vamos embora, rapazes. Já acabamos”.
Loomis piscou uma única vez, devagar; Joe decidiu interpretar isso como uma oferta de paz — ou uma possível oferta de paz — e deu o fora dali.
* * *
Depois de sair, os três seguiram de carro pelo cais. O céu exibia um tom ofuscante de azul riscado de amarelo-escuro. Gaivotas desciam e subiam, grasnando. A caçamba de um guindaste de navio passou depressa por cima da rua que dava acesso ao cais, depois retornou com um ruído metálico enquanto Paolo atropelava sua sombra com o carro. Operários do cais, estivadores e caminhoneiros, em pé junto a suas cargas, fumavam no frio radioso. Um grupo deles jogava pedras nas gaivotas.
Joe baixou a janela do carro e sentiu o vento frio no rosto e nos olhos. O ar tinha cheiro de sal, sangue de peixe e gasolina.
Do banco da frente, Dion Bartolo virou-se e olhou para ele: “Perguntou o nome da boneca?”.
“Estava só jogando conversa fora”, respondeu Joe.
“E algemou as mãos dela como se estivesse lhe pregando um broche no vestido e convidando para dançar?”
Joe pôs a cabeça para fora da janela aberta por alguns instantes e sorveu o ar sujo o mais profundamente que foi capaz. Paolo guiou o carro para fora do cais e subiu em direção à Broadway; o Nash Roadster chegava fácil perto dos cinquenta por hora.
“Já vi aquela garota antes”, comentou Paolo.
Joe tornou a pôr a cabeça para dentro do carro. “Onde?”
“Sei lá. Mas que vi, vi. Tenho certeza.” Ele entrou com o Nash na Broadway fazendo o carro dar um tranco, e os três sacolejaram junto. “Quem sabe você não escreve um poema para ela?”
“Que porra de poema o quê”, retrucou Joe. “Por que não vai mais devagar e para de dirigir como se a gente tivesse feito alguma coisa?”
Dion virou-se para Joe e apoiou o braço no encosto do banco. “Na verdade o meu irmão chegou a escrever um poema para uma garota uma vez.”
“Sério?”
Paolo o encarou nos olhos pelo retrovisor e aquiesceu, solene.
“E o que aconteceu?”
“Nada”, respondeu Dion. “Ela não sabia ler.”
Foram para o sul em direção a Dorchester e ficaram presos no tráfego por causa de um cavalo que caiu morto logo depois de Andrew Square. O tráfego teve de ser desviado ao redor do animal e de sua carroça de gelo virada. Lascas de gelo cintilavam nas fendas do calçamento como aparas de metal, e o vendedor de gelo, postado junto à carroça, chutava o cavalo nas costelas. Joe passou o caminho inteiro pensando nela. Suas mãos eram secas e macias. Bem pequenas e rosadas na base das palmas. As veias do pulso eram cor de violeta. A orelha direita tinha uma sarda preta na parte de trás, mas não a esquerda.
Os irmãos Bartolo moravam na Dorchester Avenue, logo acima de um açougueiro e de um sapateiro. O açougueiro e o sapateiro haviam desposado duas irmãs, e se detestavam com intensidade só um pouco menor do que detestavam as próprias esposas. O que não os impedia, entretanto, de administrar um bar clandestino em seu porão compartilhado. Todas as noites o local era frequentado por moradores dos dezesseis outros condados de Dorchester, além de condados tão distantes quanto a região costeira de North Shore, para beber os melhores destilados ao sul de Montreal e ouvir uma vocalista negra chamada Delilah Deluth cantar desilusões amorosas em um lugar oficiosamente batizado de Cadarço, nome que enfurecia tanto o açougueiro a ponto de lhe ter custado todos os cabelos. Os irmãos Bartolo iam ao Cadarço quase todo dia, o que não era nenhum problema, mas chegar ao cúmulo de residir em cima do bar parecia uma idiotice, na opinião de Joe. Bastaria uma única incursão legítima de policiais ou agentes do Tesouro honestos, por mais improvável que isso fosse, e não seria nenhum sacrifício derrubar a porta de Dion e Paolo e descobrir lá dentro dinheiro, armas e joias que dois imigrantes italianos, respectivamente funcionários de uma loja de departamentos e de uma mercearia, jamais teriam dinheiro para comprar.
Era bem verdade que as joias logo saíam porta afora para as mãos de Hymie Drago, a mula que os dois vinham usando desde que tinham quinze anos de idade, mas o dinheiro não costumava ir além de uma mesa de carteado nos fundos do Cadarço, isso quando não ia parar dentro de seus colchões.
Joe se encostou na geladeira e ficou observando Paolo guardar lá dentro sua parte e a do irmão, simplesmente afastando o lençol manchado de suor para revelar uma das muitas fendas abertas na lateral do colchão; Dion foi entregando os maços de dinheiro para Paolo, e este os enfiou lá dentro como se estivesse recheando uma ave para celebrar um feriado.
Aos vinte e três anos, Paolo era o mais velho dos três. Dion, dois anos mais novo que o irmão, parecia mais velho, porém, talvez por ser mais inteligente, ou quem sabe por ser mais cruel. Joe, que faria vinte anos no mês seguinte, era o mais novo do grupo, mas fora reconhecido como líder da operação desde que os três haviam juntado forças para destruir bancas de jornal quando Joe tinha treze anos.
Paolo levantou-se do chão. “Já sei onde vi a garota.” Deu uns tapas nos joelhos para tirar a poeira.
Joe se afastou da geladeira. “Onde?”
“Imagina se ele gostasse dela”, comentou Dion.
“Onde?”, repetiu Joe.
Paolo apontou para o assoalho. “Lá embaixo.”
“No Cadarço?”
Paolo aquiesceu. “Ela veio com o Albert.”
“Que Albert?”
“Albert, rei de Montenegro”, respondeu Dion. “Que Albert você acha?”
Infelizmente, havia apenas um Albert em Boston que se podia citar sem sobrenome. Albert White, o homem que eles haviam acabado de assaltar.
Ex-herói na guerra contra os muçulmanos das Filipinas e ex-policial que, assim como o irmão do próprio Joe, havia perdido o emprego após a greve de 1919, Albert atualmente era dono da Oficina e Reparos de Vidros Automotivos White (antiga Pneus e Automotiva Halloran), do Café White’s Downtown (antiga Lanchonete Halloran), e da Fretes e Transportes Transcontinentais White (antiga Caminhões Halloran). Segundo se dizia, havia eliminado Bitsy Halloran pessoalmente. Bitsy levara onze tiros em uma cabine telefônica de carvalho dentro de uma drogaria da rede Rexall em Egleston Square. Dizia-se que Albert havia comprado os restos chamuscados da cabine, mandado restaurar e instalado no escritório de sua casa em Ashmont Hill, e que era de lá que dava todos os seus telefonemas.
“Quer dizer que ela namora Albert.” Joe ficou decepcionado ao pensar nela como apenas mais uma namorada de gângster. Já estava tendo visões dos dois juntos percorrendo o país a bordo de um carro roubado, sem o peso de um passado nem de um futuro nas costas, perseguindo um céu escarlate e um sol poente até o México.
“Já vi os dois juntos três vezes”, disse Paolo.
“Então agora são três vezes.”
Paolo baixou os olhos para os próprios dedos em busca de confirmação. “É.”
“Então o que ela estava fazendo servindo bebida em uma partida de pôquer dele?”
“O que mais ela pode fazer?”, indagou Dion. “Se aposentar?”
“Não. Mas...”
“Albert é casado”, disse Dion. “Vá saber quanto tempo uma garota fácil dura na mão dele.”
“Você achou ela com cara de garota fácil?”
Sem tirar os olhos de Joe, Dion usou o polegar para destampar lentamente uma garrafa de gim canadense. “Não achei ela com cara de nada, a não ser de uma fulana que ensacou nosso dinheiro. Não saberia nem dizer a cor dos cabelos dela. Não saberia...”
“Louro escuro. Quase castanho-claro, mas não exatamente.”
“Ela é namorada de Albert.” Dion serviu uma bebida aos três.
“Pois é”, retrucou Joe.
“Já basta a gente ter assaltado o bar do cara. Não vá você inventar de pegar mais nada dele. Tá bom?”
Joe não respondeu.
“Tá bom?”, repetiu Dion.
“Tá bom.” Joe estendeu a mão para pegar a bebida. “Tudo bem.”
Ela não apareceu no Cadarço nas três noites seguintes. Joe tinha certeza — passou as três noites inteirinhas lá, da hora de abrir até a de fechar.
Albert, porém, apareceu, usando um daqueles ternos risca de giz cor de marfim que eram sua marca registrada. Como se estivesse em Lisboa ou algo assim. Usava os ternos com chapéus fedora marrons, que combinavam com os sapatos marrons, que por sua vez combinavam com as riscas marrons do terno. Quando nevava, vestia ternos marrons com riscas de giz cor de marfim, um chapéu cor de marfim e polainas brancas e marrons. Quando chegava fevereiro, passava aos ternos marrom-escuros com sapatos também marrom-escuros e chapéus pretos, mas Joe pensou que, na maior parte do tempo, ele seria um alvo fácil à noite. Daria para acertá-lo em um beco usando uma pistola barata de uma distância de sete metros. Não seria sequer preciso um poste de rua para ver o branco virar vermelho.
Albert, Albert, pensou Joe ao vê-lo passar com seu passo manso pelo banco em que estava sentado no balcão do Cadarço na terceira noite, se entendesse alguma coisa sobre matar, eu bem que mataria você.
O problema era que Albert não era um grande frequentador de becos e, quando o fazia, era acompanhado por quatro guarda-costas. Mesmo que você conseguisse passar pelos quatro e matá-lo — e Joe, que não era um assassino, perguntou-se por que diabo estava pensando em matar Albert White para começo de conversa —, tudo o que conseguiria fazer seria prejudicar um império de negócios para os sócios de Albert White, que incluíam a polícia, os italianos, as máfias judaicas de Mattapan e vários comerciantes legítimos, entre os quais banqueiros e investidores com interesses na indústria canavieira de Cuba e da Flórida. Prejudicar negócios desse naipe em uma cidade pequena como aquela seria como alimentar animais selvagens em cativeiro com as mãos cheias de cortes ainda sangrando.
Albert olhou para ele uma vez. Olhou de um jeito que fez Joe pensar: Ele sabe, ele sabe. Sabe que eu o assaltei. Sabe que eu quero a garota dele. Ele sabe.
Mas o que Albert perguntou foi: “Tem fogo?”.
Joe riscou um fósforo no balcão e acendeu o cigarro de Albert.
Quando Albert apagou o fósforo, soprou fumaça no rosto de Joe. “Obrigado, moleque”, disse ele antes de se afastar, pele clara como o terno, lábios rubros como o sangue que entrava e saía de seu coração.
No quarto dia depois do assalto, Joe resolveu seguir um palpite e voltou ao armazém de móveis. Quase se desencontrou dela; aparentemente, o turno das secretárias acabava junto com o dos operários, e as secretárias pareciam pequeninas enquanto os operadores de empilhadeiras e os trabalhadores da estiva lançavam sombras mais largas. Os homens saíam carregando nos ombros dos casacos sujos os ganchos de pendurar carga, falando alto e rodeando as moças, assobiando e fazendo gracinhas das quais só eles riam. As mulheres, porém, já deviam estar acostumadas, pois conseguiram extrair seu círculo menor de dentro do maior, e alguns dos homens ficaram para trás enquanto outros as seguiram e uns poucos se afastaram em direção ao segredo mais mal guardado das docas — um barco ancorado que servia bebida alcoólica desde o raiar do primeiro dia da Lei Seca em Boston.
O grupo de mulheres permaneceu unido e foi margeando depressa o cais, e Joe só a viu porque outra moça com os cabelos da mesma cor que os dela parou para ajeitar o salto e o rosto de Emma assumiu seu lugar em meio aos outros.
Joe saiu do lugar em que estava, perto da plataforma de carga da empresa Gillette, e pôs-se a andar no mesmo ritmo uns cinquenta metros atrás das mulheres. Disse a si mesmo que aquela era a namorada de Albert White. Disse a si mesmo que estava maluco e tinha de parar com aquilo agora mesmo. Não só não deveria estar seguindo a namorada de Albert White pelo cais do porto do sul de Boston, como nem sequer deveria estar em Massachusetts até saber com certeza que ninguém conseguiria identificá-lo como responsável pelo assalto à mesa de pôquer. Tim Hickey estava no Sul acertando uma compra de rum e não podia explicar como eles haviam acabado invadindo a partida errada, os irmãos Bartolo estavam se mantendo discretos e andando na linha até entenderem tudo direitinho, mas ali estava Joe, supostamente o mais inteligente dos três, correndo atrás de Emma Gould como um cão faminto que fareja o cheiro de comida no fogo.
Saia daqui, saia daqui, saia daqui.
Joe sabia que a voz estava certa. Era a voz da razão. Se não da razão, pelo menos do seu anjo da guarda.
O problema era que nesse dia ele não estava interessado em anjos da guarda. Estava interessado nela.
O grupo de mulheres se afastou do cais do porto e se dispersou na estação de metrô de Broadway Station. A maioria caminhou até um banco do lado em que passava o bonde, mas Emma desceu para dentro do metrô. Joe a deixou abrir um pouco de distância, depois a seguiu pelas roletas, desceu mais uma escada e embarcou em um trem com destino ao Norte. O vagão estava lotado e quente, mas ele não desgrudou os olhos dela, o que foi uma boa coisa, já que ela desceu na parada seguinte, South Station.
South Station era uma estação de baldeação na qual se cruzavam três linhas de metrô, duas do metrô de superfície, uma de bonde, duas de ônibus e a ferrovia de trens de subúrbio. Descer do vagão para a plataforma transformou Joe em uma bola de bilhar em movimento — ele foi empurrado, imprensado e empurrado de novo. Perdeu-a de vista. Não era um homem alto como os irmãos, um dos quais era alto e o outro altíssimo. Graças a Deus, contudo, tampouco era baixo, apenas de estatura mediana. Ficou na ponta dos pés e tentou se espremer assim pelo meio da multidão. Isso diminuiu sua velocidade, mas ele conseguiu ver um clarão de seus cabelos cor de caramelo se balançando no túnel de transferência que conduzia à estação do metrô de superfície da Atlantic Avenue.
Chegou à plataforma no momento exato em que os vagões pararam. Ela estava duas portas à sua frente, no mesmo vagão, quando o trem saiu da estação e a cidade se descortinou diante deles, com os azuis, marrons e o vermelho dos tijolos escurecendo com a chegada do crepúsculo. As janelas dos prédios de escritório já estavam amarelas. Postes se acendiam na rua, quarteirão por quarteirão. O porto sangrava pelos cantos da linha de prédios. Emma estava apoiada em uma janela, e foi atrás dela que Joe viu tudo isso desfilar. Ela fitava o vagão lotado com um olhar inexpressivo, sem se demorar em coisa alguma, mas mesmo assim atenta. Tinha uns olhos muito claros, mais claros ainda do que a pele. Tão claros quanto um gim bem gelado. Tanto o maxilar quanto o nariz eram levemente pontudos e cobertos de sardas. Nada nela convidava a uma abordagem. Ela parecia trancada atrás do próprio rosto frio e belo.
O que o cavalheiro vai querer hoje para acompanhar seu assalto?
Só tente não deixar marcas.
Em geral é isso que dizem os mentirosos.
Quando passaram pela estação de Batterymarch e seguiram sacolejando pela parte norte da cidade, Joe olhou para o gueto lá embaixo, formigando de italianos — pessoas, dialetos, costumes, comidas italianas —, e não pôde evitar pensar no irmão mais velho, Danny, o policial irlandês que adorava tanto o gueto italiano a ponto de lá morar e trabalhar. Danny era um cara alto, mais alto do que quase todo mundo que Joe já tivesse conhecido. Tinha sido um boxeador e tanto, um policial e tanto, e mal sabia o que era o medo. Ativista e vice-presidente do sindicato dos policiais, tivera o mesmo destino de todos os agentes da corporação que haviam decidido fazer greve em setembro de 1919 — perdera o emprego sem esperança de ser aceito novamente e adentrara a lista negra de todos os cargos de segurança pública da Costa Leste. Nunca se recuperou. Pelo menos assim rezava a lenda. Acabara indo parar em um bairro negro de Tulsa, Oklahoma, arrasado por um incêndio cinco anos antes. Desde então, a família de Joe ouvira apenas boatos sobre o paradeiro dele e da esposa, Nora — Austin, Baltimore, Filadélfia.
Quando era pequeno, Joe tinha adoração por Danny. Depois passara a odiá-lo. Agora quase nunca pensava no irmão. Quando o fazia, tinha de admitir que sentia falta da sua risada.
Na outra ponta do vagão, Emma Gould começou a dizer “Com licença, com licença” enquanto abria caminho em direção às portas. Joe olhou pela janela e viu que estavam chegando a City Square, em Charlestown.
Charlestown. Não era de espantar que ela não tivesse se abalado sob a mira de uma arma. Em Charlestown, as pessoas levavam seus revólveres calibre 38 para a mesa do jantar e usavam o cano para misturar açúcar no café.
Seguiu-a até uma casa de dois andares no final de Union Street. Pouco antes de lá chegar, ela dobrou à direita por uma passagem de pedestres que margeava a lateral do imóvel e, quando Joe chegou ao beco que ficava atrás deste, ela havia sumido. Ele olhou para um lado e para outro do beco — não havia nada a não ser construções semelhantes de dois andares, a maioria quadrada e modesta, com caixilhos podres nas janelas e remendos de piche nos telhados. Ela poderia ter entrado em qualquer uma, mas havia escolhido a última passagem de pedestres do quarteirão. Ele concluiu então que devia morar na casa cinza-azulada bem na sua frente, com portas da frente de aço acima de um alçapão de madeira de duas folhas.
Logo depois da casa ficava um portão de madeira. Estava trancado, de modo que ele segurou a parte superior e suspendeu o próprio corpo até se deparar com outro beco, mais estreito do que aquele em que estava. Com exceção de umas poucas latas de lixo, estava vazio. Tornou a se abaixar e vasculhou o bolso à procura de um dos grampos de cabelo sem os quais raramente saía de casa.
Meio minuto depois, já do outro lado do portão, pôs-se a aguardar.
Não demorou muito. Àquela hora do dia — fim da jornada de trabalho —, raramente demorava. Dois pares de passos vieram subindo o beco; eram dois homens conversando sobre o último avião que tinha caído tentando atravessar o Atlântico sem deixar nenhum sinal do piloto, um inglês, ou de destroços. Em um segundo estava no ar, no segundo seguinte havia sumido. Um dos homens bateu no alçapão, e alguns segundos depois Joe o ouviu dizer: “Ferreiro”.
Uma das folhas do alçapão se levantou com um rangido, e instantes depois voltou ao lugar e tornou a ser trancada.
Joe aguardou cinco minutos, cronometrando o tempo, então saiu do segundo beco e foi bater no alçapão.
Uma voz abafada perguntou: “Quem é?”.
“Ferreiro.”
Ouviu-se um barulho metálico quando alguém abriu o trinco, e Joe ergueu a porta do alçapão. Pisou na escada estreita e pôs-se a descer os degraus, abaixando a porta do alçapão atrás de si. No pé da escada, deparou-se com uma segunda porta. Esta se abriu quando ele estendeu a mão para tocá-la. Um velho meio careca, com o nariz parecendo uma couve-flor, vasinhos estourados cobrindo as bochechas e a boca contorcida em um esgar sombrio, acenou para que entrasse.
Era um porão inacabado, com um balcão de madeira no centro do piso nu. As mesas eram barris de madeira, e as cadeiras eram feitas do pinho mais vagabundo.
No balcão, Joe sentou-se na ponta mais próxima da porta, onde uma mulher de cujos braços pendiam banhas semelhantes a ventres prenhes lhe serviu um balde de cerveja quente com um gosto que lembrava um pouco sabão e um pouco serragem, mas não muito cerveja nem muito bebida alcoólica. Ele procurou Emma Gould na penumbra do porão, mas tudo o que viu foram trabalhadores do cais, uns marinheiros e umas prostitutas. Na parede debaixo da escada estava encostado um piano sem uso, com algumas teclas quebradas. Não era o tipo de bar clandestino que proporcionasse algum entretenimento além das brigas que iriam se armar entre os marinheiros e os trabalhadores do cais quando eles percebessem que faltavam duas prostitutas para contemplar a todos.
Ela surgiu pela porta atrás do balcão amarrando um lenço atrás da cabeça. Havia trocado a blusa e a saia por um suéter de pescador marfim e uma calça de tweed marrom. Percorreu o balcão esvaziando cinzeiros e enxugando bebida derramada, enquanto a mulher que havia servido Joe tirava o avental e desaparecia pela porta atrás do balcão.
Quando ela chegou perto de Joe, seus olhos olharam de relance para o balde quase vazio na sua frente. “Quer mais um?”
“Aceito.”
Ela olhou de relance para o rosto dele e não pareceu gostar do resultado. “Quem falou com o senhor sobre este lugar?”
“Dino Cooper.”
“Não conheço”, disse ela.
Então somos dois, pensou Joe, perguntando-se onde cacete fora desencavar um nome idiota daqueles. Dino? Melhor teria sido chamar logo o cara de “dinossauro”.
“Ele é de Everett.”
Ela limpou o pedaço de balcão na sua frente com o pano, ainda sem se mexer para providenciar a bebida. “Ah, é?”
“É. Estava trabalhando na margem do Mystic para os lados de Chelsea na semana passada. Serviços de dragagem.”
Ela fez que não com a cabeça.
“Enfim, Dino apontou para o outro lado do rio e me falou sobre este lugar. Disse que a cerveja aqui era boa.”
“Agora sei que está mentindo.”
“Porque alguém disse que a cerveja aqui era boa?”
Ela o encarou do mesmo jeito que o havia encarado na sala em que Albert White guardava seu dinheiro, como se pudesse ver os intestinos enrolados dentro de sua barriga, o cor-de-rosa dos pulmões, os pensamentos que corriam pelos sulcos de seu cérebro.
“A cerveja não é tão ruim assim”, comentou ele, erguendo o balde. “Já tomei uma aqui outro dia. Juro que...”
“A manteiga não deve derreter na sua boca, não é?”, indagou ela.
“Como é, senhorita?”
“Derrete ou não derrete?”
Ele decidiu tentar a tática da indignação resignada. “Não estou mentindo, senhorita. Mas posso ir embora. Com certeza posso ir embora.” Levantou-se. “Quanto devo pela primeira?”
“Vinte centavos.”
Ela estendeu a mão, ele depositou ali as duas moedas e ela as guardou no bolso da calça masculina.
“Só que não vai.”
“O quê?”, estranhou Joe.
“Embora. Quer que eu fique tão impressionada com o fato de ter dito que vai embora que chegue à conclusão de que o senhor é um cara honesto e lhe peça para ficar.”
“Nada disso.” Ele vestiu o casaco. “Vou embora mesmo.”
Ela se debruçou por cima do balcão. “Venha cá.”
Ele inclinou a cabeça.
Ela curvou um dedo, chamando. “Venha cá.”
Ele tirou uns dois bancos do caminho e se aproximou do balcão.
“Está vendo aqueles caras ali no canto, sentados perto da mesa feita de caixote de maçã?”
Ele nem sequer precisou virar a cabeça. Tinha visto os homens assim que entrara — eram três. Pela aparência, deviam ser estivadores: ombros feito mastros de navio, mãos feito pedras, olhar que dava medo de cruzar.
“Estou.”
“Eles são meus primos. Dá para notar um ar de família, não dá?”
“Não.”
Ela deu de ombros. “Sabe o que eles fazem da vida?”
Seus lábios estavam tão próximos que, se eles abrissem a boca e esticassem a língua, as pontas teriam se tocado.
“Não faço ideia.”
“Vão atrás de caras como você, que mentem sobre outros caras chamados Dino, e matam de pancada.” Ela chegou os cotovelos mais para a frente, e seus rostos se aproximaram ainda mais. “Depois jogam no rio.”
Joe sentiu uma coceira no couro cabeludo e atrás das orelhas. “Uma senhora profissão.”
“Melhor do que assaltar mesas de pôquer, não é?”
Por alguns instantes, Joe não conseguiu mover o rosto.
“Diga alguma coisa inteligente”, falou Emma Gould. “Quem sabe sobre aquela meia que você pôs na minha boca. Quero ouvir algum comentário elegante e inteligente.”
Joe não disse nada.
“E, enquanto estiver pensando no que dizer, pense no seguinte: eles estão olhando para cá agora mesmo”, disse Emma Gould. “Se eu puxar este lóbulo da orelha aqui, você não chega nem à escada.”
Ele olhou para o lóbulo da orelha que ela havia indicado com um relancear dos olhos claros. Era o direito. Parecia um grão-de-bico, só que mais macio. Joe se perguntou que gosto teria aquele lóbulo de manhã bem cedo.
Olhou para baixo em direção ao balcão. “E se eu puxar este gatilho?”
Ela seguiu seu olhar e viu a pistola que ele havia posicionado entre os dois.
“Você não vai ter tempo de alcançar o lóbulo”, disse ele.
Os olhos dela se afastaram da pistola e subiram por seu braço de um jeito que ele pôde sentir os pelos se abrindo. Foram seguindo pelo meio do seu peito, depois subiram pela garganta e pelo queixo. Quando encontraram os seus, estavam maiores e mais penetrantes, acesos com algo que havia surgido no mundo bem antes das coisas civilizadas.
“Eu largo à meia-noite”, disse ela.
2
AQUILO QUE FALTA NELA
Joe morava no último andar de uma casa de cômodos no bairro de West End, poucos minutos a pé da confusão de Scollay Square. A casa de cômodos pertencia e era gerida pela máfia de Tim Hickey, presente havia muito tempo na cidade mas que prosperara nos seis anos após a implementação da Décima Oitava Emenda à Constituição.
O primeiro andar em geral era ocupado por irlandeses recém-desembarcados com suas calças de lã e corpos emaciados. Uma das tarefas de Joe era ir buscá-los no porto e conduzi-los aos refeitórios públicos de Hickey, onde lhes dava pão preto, sopa branca de mariscos e batatas cinzentas. Então os levava para a casa de cômodos, onde eram acomodados três em cada quarto sobre colchões firmes e limpos enquanto suas roupas eram lavadas no subsolo pelas putas mais velhas. Dali a cerca de uma semana, quando já houvessem recuperado parte das forças e livrado os cabelos dos piolhos e as bocas dos dentes podres, eles assinavam cartões de registro eleitoral e juravam apoio irrestrito aos candidatos de Hickey nas eleições do ano seguinte. Então eram soltos na rua com nomes e endereços de outros imigrantes das mesmas aldeias ou condados de seu país que lhes pudessem arrumar um emprego imediato.
No primeiro andar da casa de cômodos, acessível apenas por uma entrada independente, ficava o cassino. No segundo ficavam as putas. Joe morava no terceiro, em um quarto no fim do corredor. Havia um bom banheiro no andar que ele dividia com quaisquer figuras importantes que estivessem visitando a cidade na ocasião e com Penny Palumbo, a puta mais valiosa da coleção de Tim Hickey. Penny tinha vinte e cinco anos mas aparentava dezessete, e seus cabelos eram da cor do mel engarrafado banhado pela luz do sol. Um homem já havia pulado de um telhado por causa de Penny Palumbo; outro se jogara de um navio; um terceiro, em vez de se matar, tinha matado outro homem. Joe gostava bastante de Penny: ela era simpática e sensacional de se olhar. No entanto, se o seu rosto aparentava dezessete anos, ele poderia apostar que o cérebro aparentava dez. Até onde Joe podia constatar, a única coisa que havia lá dentro eram três canções e um vago desejo de se tornar costureira.
Certas manhãs, dependendo de quem descesse primeiro ao cassino, um deles comprava café para o outro. Nessa manhã, foi ela quem lhe levou o café, e os dois se sentaram junto à janela do quarto dele, com vista para Scollay Square e seus toldos listrados, imensos letreiros, e os primeiros caminhões de leite que passavam engasgando por Tremont Row. Penny lhe contou que, na noite anterior, uma cartomante havia lhe garantido que das duas, uma: ou ela morreria jovem, ou então viraria devota da igreja pentecostal trinitarista no Kansas. Quando Joe lhe perguntou se ela sentia medo de morrer, Penny respondeu que sim, claro, mas não tanto quanto de se mudar para o Kansas.
Quando ela saiu, ele a ouviu conversando com alguém no corredor, e em seguida Tim Hickey apareceu na soleira do seu quarto. Tim estava usando um colete escuro risca de giz, desabotoado, calça do mesmo feitio, e uma camisa branca com o colarinho aberto e sem gravata. Era um homem esbelto, com uma bela cabeleira toda branca e os olhos tristes e sem esperança de um capelão no corredor da morte.
“Bom dia, sr. Hickey.”
“Bom dia, Joe.” Hickey tomava café em um copo antiquado que refletiu a luz da manhã entrando pelos peitoris. “Sabe aquele banco em Pittsfield?”
“O que tem?”, indagou Joe.
“O cara com quem você tem de falar vem aqui às terças, mas na maioria das outras noites pode ser encontrado no bar de Upham Corner. Ele costuma manter um chapéu de feltro no balcão, à direita da bebida. Vai lhe dar a planta do prédio e a rota de fuga.”
“Obrigado, sr. Hickey.”
Hickey retribuiu a frase com um gesto do copo.
“Mais uma coisa... lembra aquele crupiê sobre quem conversamos no mês passado?”
“Lembro”, respondeu Joe. “Carl.”
“Ele está fazendo de novo.”
Carl Laubner, um de seus crupiês de vinte e um, tinha vindo de um estabelecimento que praticava o jogo sujo, e eles não conseguiam convencê-lo a jogar limpo, não se algum dos jogadores presentes tivesse um aspecto que não fosse cem por cento branco. Assim, sempre que um italiano ou grego se sentava à mesa, pronto. Num passe de mágica, Carl começava a puxar dez e ases para a banca a noite inteira, ou pelo menos até o pessoal mais escurinho ir embora.
“Mande o cara embora”, ordenou Hickey. “Assim que ele chegar.”
“Sim, senhor.”
“Não praticamos essa merda aqui. Certo?”
“Certíssimo, sr. Hickey. Certíssimo.”
“E conserte o caça-níqueis doze, sim? Está meio solto. Nós somos uma casa honesta, mas também não somos uma porra de uma instituição beneficente, não é, Joe?”
Joe escreveu um lembrete para si mesmo. “Não, senhor, não somos.”
Tim Hickey administrava um dos poucos cassinos honestos de Boston, o que o tornava um dos mais populares da cidade, sobretudo para os jogos mais altos. Tim havia ensinado a Joe que jogos marcados conseguiam depenar um cliente talvez duas, três vezes no máximo antes de ele entender o que estava acontecendo e parar de jogar. Tim não queria depenar um cliente um par de vezes; queria sangrá-lo até o fim da vida. Se os clientes puderem continuar a jogar e a beber, dizia ele a Joe, vão lhe entregar todo seu dinheiro e ainda agradecer por você tê-los livrado do peso.
“Sabe os nossos clientes?”, dissera Tim mais de uma vez. “Eles visitam a noite. Nós não: nós vivemos na noite. Eles alugam o que nos pertence. Isso significa que, quando eles vêm brincar no nosso quintal, nós lucramos com cada operação.”
Tim Hickey era um dos homens mais inteligentes que Joe já conhecera. No início da Lei Seca, quando as máfias da cidade eram divididas por etnia — italianos só se misturavam com italianos, judeus com judeus, irlandeses com irlandeses —, Hickey se misturava com todo mundo. Aliara-se a Giancarlo Calabrese, que administrava a máfia de Pescatore enquanto o velho Pescatore estava na prisão, e juntos os dois haviam começado a contrabandear rum caribenho quando todo o resto contrabandeava uísque. Na época em que as gangues de Detroit e Nova York aumentaram seu poder o suficiente para transformar todos os outros em seus fornecedores no mercado ilegal de uísque, as máfias de Hickey e Pescatore já haviam dominado o mercado de álcool de cana e melaço. Os produtos vinham principalmente de Cuba, cruzavam os estreitos da Flórida, eram transformados em rum no território americano e transportados na calada da noite Costa Leste acima para serem vendidos com um lucro de oitenta por cento.
De volta de sua mais recente viagem a Tampa, Tim havia conversado com Joe sobre o malogrado ataque ao armazém de móveis no sul de Boston. Elogiara Joe por ter tido a inteligência de não arrombar a tesouraria para pegar o dinheiro da casa (“Essa decisão evitou uma guerra”, foi seu comentário), e lhe dissera que, quando eles descobrissem por que haviam recebido uma dica tão ruim e perigosa, alguém se veria enforcado em vigas tão altas quanto a torre da Alfândega.
Joe quis acreditar nele, pois a alternativa era crer que Tim os havia mandado para aquele armazém justamente porque queria começar uma guerra com Albert White. Tim bem que seria capaz de sacrificar homens que vinha formando desde que eram meninos com o objetivo de dominar de uma vez por todas o mercado de rum. Na verdade, Tim seria capaz de qualquer coisa. Toda e qualquer coisa. Para estar no topo era preciso ser assim — todo mundo tinha de saber que você já tinha amputado a própria consciência fazia muito tempo.
Agora no quarto de Joe, Tim despejou um pouco de rum de sua garrafinha dentro do café e tomou um gole. Ofereceu a garrafinha a Joe, mas este balançou a cabeça. Tim tornou a guardar a garrafinha no bolso. “Por onde você tem andado ultimamente?”
“Por aqui mesmo.”
Hickey sustentou seu olhar. “Você saiu todas as noites desta semana, e da semana passada também. Está namorando?”
Joe pensou em mentir, mas não conseguiu pensar em nenhum motivo para fazê-lo. “É, estou.”
“Moça simpática?”
“Cheia de vida. Ela é...” — Joe não conseguiu atinar com a palavra exata — “é uma moça e tanto.”
Hickey se afastou do batente. “Arrumou uma daquelas que entram na veia, hein?” Fez a mímica de quem espeta uma agulha no braço. “Dá para notar.” Chegou mais perto e segurou a nuca de Joe com uma das mãos. “Nós em geral não temos muitas chances com as boas. Não na nossa profissão. Ela sabe cozinhar?”
“Sabe.” A verdade era que Joe não tinha a menor ideia.
“Isso é importante. Pouco importa se elas cozinham bem ou mal, contanto que se disponham.” Hickey soltou o pescoço dele e tornou a se aproximar da porta. “Converse com o tal cara sobre a história de Pittsfield.”
“Sim, senhor.”
“Bom rapaz”, disse Tim, e começou a descer a escada em direção ao escritório que ficava atrás do caixa do cassino.
Carl Laubner acabou trabalhando mais duas noites antes de Joe se lembrar de mandá-lo embora. Vinha esquecendo algumas coisas ultimamente, entre as quais dois encontros marcados com Hymie Drago para passar adiante a mercadoria do roubo à fábrica de peles Karshman. Lembrara-se de ir até o caça-níqueis e apertar os parafusos bem apertados, mas, quando Laubner chegou nessa noite para o seu turno, Joe já tinha saído com Emma Gould outra vez.
Desde aquela noite no bar clandestino do porão em Charlestown, ele e Emma tinham se visto quase todas as noites. Quase todas, mas não todas. Nas outras ela saía com Albert White, situação que Joe até então conseguira qualificar de incômoda, embora estivesse rapidamente evoluindo para intolerável.
Quando não estava com Emma, tudo em que Joe conseguia pensar era quando tornaria a estar. Então, quando se encontravam, não se agarrar deixava de ser uma possibilidade improvável e passava a ser impossível. Quando o bar clandestino de seu tio estava fechado, os dois transavam lá. Quando os pais e irmãos dela estavam fora do apartamento que dividia com a família, transavam lá. Transavam no carro de Joe e também no seu quarto depois de ele a fazer se esgueirar pela escada dos fundos. Transaram no alto de um morro frio, no meio de um bosque de árvores sem folhas com vista para o rio Mystic, e em uma praia fria de novembro com vista para a enseada de Savin Hill em Dorchester. Em pé, sentados, deitados — para eles não fazia muita diferença. Dentro de casa, ao ar livre — era a mesma coisa. Quando tinham o luxo de uma hora inteira juntos, preenchiam-na com quantos novos truques e posições conseguissem inventar. Quando só tinham alguns minutos, porém, alguns minutos bastavam.
O que raramente faziam era falar. Pelo menos não sobre nada fora dos limites daquele vício aparentemente insaciável de um pelo outro.
Por trás dos olhos e da pele claros de Emma havia algo encolhido, enjaulado. E não enjaulado de uma forma que quisesse sair. Enjaulado de uma forma que proibia qualquer outra coisa de entrar. A jaula se abria quando ela o recebia dentro de si e enquanto durasse o ato do amor. Nessas horas, seus olhos bem abertos se mostravam atentos, e ele podia ver lá dentro sua alma, a luz vermelha de seu coração, e quaisquer sonhos que ela pudesse ter acalentado quando criança, temporariamente soltos e libertos de seu calabouço de paredes escuras e porta fechada a cadeado.
Quando ele saía, porém, e a respiração dela voltava ao normal, Joe via essas coisas se distanciarem como se fossem a maré.
Mas pouco importava. Começava a desconfiar que estava apaixonado por ela. Naqueles raros instantes em que a jaula se abria e ele era convidado a entrar, descobria uma pessoa doida para confiar, doida para amar, caramba, doida para viver. Ela precisava apenas ver que ele era digno de fazê-la arriscar aquela confiança, aquele amor, aquela vida.
E ele seria.
Completou vinte anos nesse inverno e soube o que queria fazer com o resto de sua vida. Queria se tornar a pessoa em quem Emma Gould iria depositar toda a sua confiança.
À medida que o inverno avançou, os dois se arriscaram a aparecer juntos em público algumas vezes. Apenas nas noites em que ela ouvira de fontes seguras que Albert White e seus principais capangas estavam fora da cidade, e apenas em estabelecimentos de propriedade de Tim Hickey ou seus sócios.
Um dos sócios de Tim era Phil Cregger, dono do restaurante Venetian Garden, situado no térreo do Hotel Bromfield. Joe e Emma foram lá em uma noite gelada na qual, ainda que o céu estivesse limpo, um cheiro de neve pairava no ar. Haviam acabado de entregar seus casacos e chapéus na chapelaria quando um grupo saiu da salinha privativa atrás da cozinha, e Joe soube quem eram antes mesmo de ver seus rostos pela fumaça dos charutos e pela afabilidade ensaiada de suas vozes — políticos.
Dignitários, conselheiros locais e municipais, capitães do corpo de bombeiros, capitães de polícia, procuradores — a reluzente, sorridente e podre pilha que mantinha mal e porcamente acesas as luzes da cidade. Que fazia os trens saírem no horário e os sinais de trânsito funcionarem, mal e porcamente. Que mantinha o povo consciente de que esses serviços e mil outros, grandes e pequenos, poderiam se extinguir — se extinguiriam de fato — não fosse a sua constante vigilância.
Viu o pai no mesmo instante em que o pai reparou na sua presença. Como sempre quando passavam algum tempo sem se ver, foi perturbador, fosse pelo simples fato de que os dois eram o retrato um do outro. O pai de Joe tinha sessenta anos. Tivera Joe depois de produzir dois filhos em uma idade mais jovem e respeitável. No entanto, embora Connor e Danny carregassem os traços genéticos de pai e mãe no rosto e no corpo, e com certeza na altura (herança do lado Fennessey da família, cujos homens eram altos), Joe saíra à imagem e semelhança do pai. Mesma altura, mesma corpulência, mesmo maxilar marcado, mesmo nariz e maçãs do rosto saltados e olhos afundados nas órbitas só um pouco além do normal, o que tornava ainda mais difícil para os outros saber o que ele estava pensando. A única diferença entre Joe e o pai era o colorido. Os olhos de Joe eram azuis, os do pai, verdes; os cabelos de Joe tinham a cor do trigo, os do pai eram brancos feito linho. Tirando isso, o pai de Joe olhava para o filho e via a própria juventude zombando da sua cara. Joe olhava para o pai e via manchas senis e pele flácida, e a Morte postada ao pé de sua cama às três da manhã, impaciente, batucando no chão com o pé.
Depois de alguns apertos de mão e tapinhas nas costas à guisa de despedida, seu pai se separou do grupo enquanto os homens faziam fila para pegar os casacos. Parou diante do filho. Estendeu a mão. “Como vai?”
Joe apertou a mão dele. “Nada mal. E o senhor?”
“Muito bem. Fui promovido no mês passado.”
“Subcomandante do Departamento de Polícia de Boston”, disse Joe. “Fiquei sabendo.”
“E você? Onde anda trabalhando?”
Era preciso conhecer Thomas Coughlin há muito tempo para detectar nele os efeitos do álcool. Estes nunca se manifestavam na dicção, que permanecia fluente, firme e com volume regular mesmo após meia garrafa de um bom uísque irlandês. Nunca se manifestavam em nenhum aspecto anuviado nos olhos. Para quem soubesse onde procurar, contudo, era possível detectar algo predatório e travesso no brilho do rosto bonito, algo que avaliava seu interlocutor, identificava suas fraquezas, e ponderava se deveria se banquetear com elas.
“Pai, esta é Emma Gould”, apresentou Joe.
Thomas Coughlin segurou a mão da jovem e beijou-lhe os nós dos dedos. “Muito prazer, srta. Gould.” Meneou a cabeça para o maître. “Gerald, por favor, a mesa do canto.” Então sorriu para Joe e Emma. “Vocês se importam se eu jantar com vocês? Estou faminto.”
Conseguiram passar pela salada em relativa harmonia.
Thomas contou histórias sobre a infância de Joe, cujo invariável objetivo era mostrar que malandrinho Joe tinha sido, como ele era incontrolável e cheio de energia. A tirar por esse relato, eram histórias inacreditáveis dignas dos curtas-metragens de Hal Roach nas matinês de sábado. Seu pai deixou de fora o fim habitual das histórias — uma palmada ou o cinto.
Emma sorriu e deu risadas nos momentos certos, mas Joe pôde ver que estava fingindo. Os três estavam fingindo. Joe e Thomas se fingiam ligados pelo amor entre pai e filho, e Emma fingia não notar que eles não o eram.
Depois da história de Joe aos seis anos de idade no jardim do pai — contada tantas vezes ao longo dos anos que Joe era capaz de prever com exatidão cada pausa que o pai fazia —, Thomas perguntou a Emma de onde vinha sua família.
“Charlestown”, respondeu ela, e Joe cismou ter detectado um quê de desafio no tom de sua voz.
“Não, eu quis dizer antes de virem para cá. A senhorita claramente é irlandesa. Sabe onde nasceram seus antepassados?”
O garçom retirou os pratos de salada, e Emma falou: “O pai da minha mãe era de Kerry e a mãe do meu pai era de Cork”.
“Eu nasci pertinho de Cork”, disse Thomas com um deleite inabitual.
Emma tomou um gole d’água, mas não disse nada; de repente, foi como se uma parte sua estivesse faltando. Joe já tinha visto isso antes — a moça sabia se desconectar de uma situação que não lhe agradava. Seu corpo permanecia presente, como algo esquecido na cadeira durante a fuga, mas sua essência, aquilo que fazia de Emma Emma, desaparecia.
“Qual era o nome de solteira da sua avó?”
“Não sei”, respondeu ela.
“Não sabe?”
Emma deu de ombros. “Ela já morreu.”
“Mas são suas raízes.” Thomas parecia confuso.
Emma tornou a dar de ombros. Acendeu um cigarro. Thomas não esboçou reação, mas Joe sabia que estava consternado. Moças modernas o indignavam sob incontáveis aspectos — as que fumavam, as que deixavam as coxas à mostra, as que usavam decotes ou apareciam embrigadas em público sem vergonha ou temor da reprovação cívica.
“Há quanto tempo a senhorita conhece meu filho?”, Thomas sorriu.
“Alguns meses.”
“Vocês dois são...?”
“Pai.”
“Joseph?”
“Não sabemos o que somos.”
No íntimo, ele nutrira esperanças de que Emma fosse aproveitar aquela oportunidade para esclarecer o que os dois de fato eram, mas em vez disso ela lhe lançou um rápido olhar que perguntava por quanto mais tempo teriam de ficar ali sentados e voltou a fumar, com os olhos esquivos a passear sem rumo pelo grandioso salão.
Os primeiros pratos chegaram à mesa, e os três passaram os vinte minutos seguintes discorrendo sobre a qualidade dos bifes e do molho béarnaise, e sobre o novo carpete que Cregger mandara colocar recentemente no restaurante.
Durante a sobremesa, Thomas acendeu seu próprio cigarro. “Mas então, meu bem, o que você faz da vida?”
“Trabalho na empresa de móveis Papadikis.”
“Em que departamento?”
“Sou secretária.”
“Meu filho roubou um sofá? Foi assim que vocês dois se conheceram?”
“Pai”, interveio Joe.
“Só estou querendo saber como vocês se conheceram”, insistiu seu pai.
Emma acendeu outro cigarro e olhou para o salão. “Este lugar é bem chique, mesmo.”
“É que eu sei muito bem como o meu filho ganha a vida. Só posso imaginar que, se a senhorita veio a ter contato com ele, das duas, uma: ou foi durante um crime, ou então em um estabelecimento frequentado por indivíduos grosseiros.”
“Pai, pensei que fôssemos ter um jantar agradável”, disse Joe.
“Achei que tivéssemos tido. Srta. Gould?”
Emma olhou para ele.
“Minhas perguntas desta noite a deixaram constrangida?”
Emma cravou nele aqueles seus olhos frios, olhos capazes de congelar uma camada fresca de piche no telhado.
“Não sei aonde o senhor está querendo chegar. E, para falar a verdade, não estou nem aí.”
Thomas se recostou na cadeira e tomou um gole de café. “Estou falando sobre a senhorita ser o tipo de moça que convive com criminosos, o que talvez não seja a melhor coisa do mundo para a sua reputação. O fato de o criminoso em questão por acaso ser meu filho não vem ao caso. O que importa é que meu filho, criminoso ou não, continua sendo meu filho, e tenho por ele sentimentos paternos, sentimentos que me levam a questionar o bom senso de ele frequentar o tipo de mulher que sabidamente convive com criminosos.” Thomas tornou a pousar a xícara sobre o pires e sorriu para ela. “Entendeu o raciocínio?”
Joe se levantou da mesa. “Certo, vamos indo.”
Mas Emma não se mexeu. Apoiou o queixo na base da mão e passou algum tempo observando Thomas, com a brasa do cigarro a se consumir junto à orelha. “Meu tio comentou sobre um policial que o estava subornando chamado Coughlin. Seria o senhor?” Lançou-lhe um sorriso de lábios contraídos semelhante ao que ele exibia e deu uma tragada no cigarro.
“Esse tio seria seu tio Robert, aquele que todos chamam de Bobo?”
Ela confirmou com um bater das pálpebras.
“O policial ao qual a senhorita está se referindo chama-se Elmore Conklin. Ele é lotado em Charlestown e é conhecido por aceitar subornos de estabelecimentos ilegais como os de Bobo. Eu, por minha parte, raramente vou a Charlestown. Como subcomandante, porém, ficarei feliz em dedicar um interesse mais específico ao estabelecimento do seu tio.” Thomas apagou o cigarro no cinzeiro. “Isso a deixaria contente, meu bem?”
Emma estendeu a mão para Joe. “Preciso retocar a maquiagem.”
Joe lhe deu dinheiro para a gorjeta da funcionária do toalete feminino, e os dois a observaram cruzar o restaurante. Joe se perguntou se ela voltaria para a mesa ou simplesmente pegaria o casaco e iria embora.
Seu pai sacou do colete o relógio de bolso e o abriu com um movimento do polegar. Em seguida o fechou com a mesma rapidez e tornou a guardá-lo no bolso. O relógio era seu bem mais precioso, um Patek Philippe dezoito quilates, presente de um presidente de banco agradecido mais de duas décadas antes.
“Isso era mesmo necessário?”, perguntou-lhe Joe.
“Não fui eu quem comecei a briga, Joe, então não me critique pela forma como a terminei.” Seu pai se recostou na cadeira e cruzou uma perna por cima da outra. Alguns homens usavam o próprio poder como se fosse um casaco que não conseguissem fazer caber direito ou parar de causar comichão. Thomas Coughlin usava o seu como se houvesse sido feito sob medida para ele por um alfaiate de Londres. Correu os olhos pelo salão e meneou a cabeça para alguns conhecidos antes de tornar a olhar para o filho. “Se eu pensasse que você está apenas trilhando um caminho pouco convencional no mundo, acha que eu iria me importar?”
“Acho”, respondeu Joe.
Seu pai esboçou um sorriso suave e deu de ombros de forma ainda mais suave. “Faz trinta e sete anos que sou policial, e aprendi uma coisa mais importante do que todas as outras.”
“Que o crime não compensa a não ser quando cometido em escala institucional”, disse Joe.
Outro sorriso suave, e uma leve inclinação da cabeça. “Não, Joseph. Não. O que aprendi foi que a violência procria. E que os filhos gerados pela sua violência voltarão para persegui-lo como criaturas selvagens, irracionais. Você não vai reconhecê-los, mas eles vão reconhecer você. E vão considerá-lo merecedor da sua punição.”
Ao longo dos anos, Joe já havia escutado variações desse discurso. O que seu pai era incapaz de perceber — além do fato de estar se repetindo — era que teorias genéricas nem sempre se aplicavam a indivíduos específicos. Não se o indivíduo — ou indivíduos — em questão fosse determinado o bastante para criar as próprias regras e inteligente o bastante para fazer todos os outros obedecer-lhes.
Joe tinha só vinte anos, mas já sabia que era esse tipo de pessoa.
No entanto, ainda que fosse unicamente para agradar ao pai, perguntou: “E por que motivo exatamente essas crias violentas estão me punindo, mesmo?”.
“Pelo descuido da sua reprodução.” Seu pai se inclinou para a frente, cotovelos sobre a mesa, palmas das mãos unidas. “Joseph.”
“Joe.”
“Joseph, violência gera violência. Não há escapatória.” Ele separou as mãos e encarou o filho. “O que você põe no mundo vai sempre voltar para buscá-lo.”
“Sim, pai, eu conheço o catecismo.”
Seu pai inclinou a cabeça em um gesto de reconhecimento enquanto Emma saía do toalete e atravessava o salão em direção à chapelaria. Acompanhando-a com os olhos, disse a Joe: “Mas nunca de uma forma que você possa prever”.
“Tenho certeza de que não.”
“Você não tem certeza de nada a não ser da própria certeza. A segurança que você não fez por merecer é sempre a mais radiosa.” Thomas observou Emma entregar o recibo da chapelaria à atendente. “Ela é bem bonita.”
Joe não disse nada.
“Tirando isso, porém, não consigo entender o que viu nela”, continuou seu pai.
“Porque ela é de Charlestown?”
“Bom, isso não ajuda”, respondeu Thomas. “O pai dela costumava ser cafetão, e o tio matou pelo menos dois homens até onde nós sabemos. Mas, Joseph, eu poderia ignorar isso tudo se ela não fosse tão...”
“Tão o quê?”
“Tão morta por dentro.” Seu pai tornou a consultar o relógio e mal conseguiu disfarçar o tremor de um bocejo. “É tarde.”
“Ela não é morta por dentro”, disse Joe. “Tem algo adormecido dentro dela, só isso.”
“Adormecido?”, falou seu pai enquanto Emma voltava para a mesa com seus casacos. “Filho, isso nunca mais vai acordar.”
Na rua, a caminho do carro, Joe comentou: “Será que você não poderia ter sido um pouco mais...?”.
“Um pouco mais o quê?”
“Entretida na conversa? Sociável?”
“Em todo esse tempo desde que estamos juntos, você só fala no quanto odeia esse homem”, disse ela.
“O tempo todo ?”
“Praticamente.”
Joe balançou a cabeça. “E eu nunca falei que odiava o meu pai.”
“Então o que você falou?”
“Que nós não nos damos bem. Que nunca nos demos bem.”
“E por quê?”
“Porque somos parecidos pra cacete.”
“Ou porque você o odeia.”
“Eu não o odeio”, afirmou Joe, sabendo que, acima de todo o resto, isso era verdade.
“Então talvez você devesse dormir com ele hoje à noite.”
“Como é?”
“Quem ele acha que é para ficar sentado ali me olhando como se eu fosse lixo? Para perguntar sobre a minha família como se soubesse que ninguém presta desde a Irlanda? Para me chamar de meu bem?” Parada na calçada, ela tremia enquanto os primeiros flocos de neve surgiam do céu negro acima deles. “Nós não somos gente. Não somos respeitáveis. Somos apenas os Gould de Union Street. Lixo de Charlestown. Somos nós quem tecemos a renda das porras das suas cortinas.”
Joe levantou as mãos. “Que conversa é essa?” Estendeu a mão na sua direção, mas ela deu um passo para trás.
“Não toque em mim.”
“Tá bom.”
“É a conversa de uma vida inteira, entendeu? Uma vida inteira sendo esnobada e menosprezada por gente feito o seu pai. Gente que, que, que... que confunde ter sorte na vida com ser uma pessoa melhor. Nós não somos menos do que vocês. Nós não somos merda.”
“Eu não disse que eram.”
“Ele disse.”
“Não disse, não.”
“Eu não sou merda”, sussurrou ela, com a boca entreaberta para a noite, e a neve a se misturar com as lágrimas que escorriam por seu rosto.
Ele a envolveu com os braços e chegou mais perto. “Posso?”
Ela aceitou o abraço, mas manteve os próprios braços junto ao corpo. Ele a segurou apertado e ela chorou encostada em seu peito, e ele lhe disse e repetiu que ela não era merda, que não era menos importante do que ninguém e que ele a amava, que a amava.
Mais tarde, estavam deitados na cama dele enquanto grossos e úmidos flocos de neve se chocavam contra as vidraças como mariposas.
“Foi uma fraqueza”, disse ela.
“O quê?”
“Na rua. Eu fui fraca.”
“Você não foi fraca. Foi sincera.”
“Eu não choro na frente das pessoas.”
“Bom, na minha pode chorar.”
“Você disse que me amava.”
“Foi.”
“E ama mesmo?”
Ele a encarou nos olhos muito, muito claros. “Amo.”
Ela demorou um minuto para falar: “Não posso dizer a mesma coisa”.
Ele disse a si mesmo que aquilo não era como falar que ela não sentia amor. “Tudo bem.”
“Tudo bem mesmo? Porque alguns caras precisam ouvir também.”
Alguns caras? Quantos caras teriam lhe dito que a amavam antes de ele aparecer?
“Eu sou mais forte do que eles”, falou, e desejou que fosse verdade.
A janela chacoalhou com as rajadas escuras do vento de fevereiro, uma sirene de nevoeiro ecoou, e em Scollay Square várias buzinas soaram, zangadas.
“O que você quer?”, perguntou-lhe ele.
Ela deu de ombros, roeu uma das unhas e olhou por cima do corpo dele em direção à janela.
“Queria que várias coisas nunca tivessem me acontecido.”
“Que coisas?”
Ela balançou a cabeça, já se distanciando dele.
“E sol”, balbuciou depois de algum tempo, com os lábios inchados de sono. “Eu queria sol, muito sol.”
3
O CUPIM DE HICKEY
Tim Hickey certa vez tinha dito a Joe que o menor dos erros às vezes é o que tem consequências mais graves. Joe se perguntou o que Tim teria dito sobre devanear ao volante do carro de fuga parado em frente a um banco. Ou melhor, devanear não — ficar obcecado. Obcecado pelas costas de uma mulher. Mais especificamente, pelas costas de Emma. Pela pinta que tinha visto ali. Tim provavelmente teria dito: pensando bem, às vezes são os maiores erros que têm as consequências mais graves, seu imbecil.
Outra coisa que Tim gostava de dizer era que, quando uma casa desabava, o primeiro cupim a tê-la roído era tão culpado quanto o último. Essa Joe não entendia — o primeiro cupim já devia ter morrido muito antes de o último cupim cravar os dentes na madeira. Ou será que não? Sempre que Tim fazia essa comparação, Joe decidia pesquisar sobre a expectativa de vida dos cupins, mas depois esquecia o assunto até a vez seguinte em que Tim mencionava o fato, geralmente quando estava bêbado e havia um hiato na conversa, e todos ao redor da mesa ficavam com a mesma expressão no rosto: afinal de contas, por que é que Tim tanto fala nessas porras desses cupins?
Uma vez por semana, Tim Hickey ia cortar o cabelo no barbeiro Aslem’s de Charles Street. Em uma determinada terça-feira, alguns desses fios de cabelo acabaram indo para dentro de sua boca quando ele levou um tiro na nuca a caminho da cadeira do barbeiro. Ficou caído no chão preto e branco de ladrilhos enquanto o sangue escorria e passava da ponta do seu nariz, e o assassino saía de trás do cabide de casacos, trêmulo e com os olhos esbugalhados. O cabide desabou com estardalhaço no chão de ladrilhos, e um dos barbeiros deu um pulo sem sair do lugar. O assassino passou por cima do cadáver de Tim Hickey e lançou às testemunhas uma série de meneios de cabeça com os ombros encolhidos, como se estivesse encabulado, antes de sair porta afora.
Quando Joe ouviu a notícia, estava na cama com Emma. Depois de ele desligar o telefone, Emma se sentou na cama enquanto ele lhe contava. Enrolou um cigarro e olhou para Joe enquanto lambia o papel — sempre olhava para ele quando lambia o papel —, acendendo-o em seguida. “Ele significava alguma coisa para você? Tim?”
“Não sei”, respondeu Joe.
“Como assim, não sabe?”
“Acho que não é nem uma coisa nem outra.”
Tim havia descoberto Joe e os irmãos Bartolo ainda crianças, tacando fogo em bancas de jornal. Um dia de manhã, eles recebiam dinheiro do Globe para incendiar uma das bancas do Standard. No dia seguinte, aceitavam dinheiro do American para queimar a do Globe. Tim os contratou para pôr fogo no Café 51. Eles então passaram para o estágio de assaltos vespertinos a residências em Beacon Hill, cujas portas dos fundos eram deixadas destrancadas por faxineiras ou faz-tudos vendidos a Tim. Sempre que faziam um dos trabalhos que Tim lhes dava, ele estabelecia um preço fixo; no caso de fazerem os próprios serviços, pagavam um tributo a Tim e ficavam com a parte do leão. Nesse aspecto, Tim fora um ótimo patrão.
Apesar disso, Joe o tinha visto estrangular Harvey Boule. Fora por causa de ópio, de uma mulher ou de um pointer alemão de pelo curto; até hoje, Joe só tinha ouvido boatos. Mas Harvey aparecera no cassino, ele e Tim começaram a conversar, e então Tim pegara o fio de uma das luminárias de mesa verdes e o passara em volta do pescoço de Harvey. Harvey era um cara grande, e havia carregado Tim pelo cassino durante cerca de um minuto enquanto todas as putas corriam para se proteger e todos os capangas de Hickey apontavam as armas para Harvey. Joe viu a compreensão surgir nos olhos de Harvey Boule — mesmo que ele conseguisse fazer Tim parar de esganá-lo, os capangas esvaziariam quatro revólveres e uma pistola automática nele. Harvey então caiu de joelhos e sujou as calças com um barulho alto de ar escapando. Ficou deitado de bruços, arquejando, enquanto Tim pressionava o joelho entre suas escápulas e enrolava o excesso de fio bem apertado em volta de uma das mãos. Torceu o fio e puxou mais ainda, e Harvey chutou com força suficiente para fazer ambos os sapatos saírem dos pés.
Tim estalou os dedos. Um de seus capangas lhe passou uma pistola, e Tim a levou à orelha de Harvey. Uma das putas falou: “Ai, meu Deus”, mas na hora em que Tim ia puxar o gatilho o olhar de Harvey se tornou indefeso e confuso, e ele soltou gemendo um último suspiro no tapete oriental falsificado que cobria o chão. Sentado em cima das costas de Harvey, Tim se inclinou para trás e devolveu a pistola ao capanga. Então se pôs a examinar o perfil do homem que acabara de matar.
Era a primeira vez que Joe via uma pessoa morrer. Menos de dois minutos antes, Harvey tinha pedido à garçonete que servira seu martíni para se informar para ele sobre o placar da partida do Sox. Dera-lhe uma bela gorjeta, também. Verificara as horas no relógio e tornara a guardá-lo no colete. Tomara um gole de martíni. Menos de dois minutos antes... e agora estava morto? Para onde ele tinha ido? Ninguém sabia. Encontrar Deus ou o diabo, para o purgatório ou coisa pior, ou talvez para lugar nenhum. Tim havia se levantado, alisado os cabelos brancos como a neve, e apontado de forma genérica para o gerente do cassino. “Mais uma rodada geral. Na conta de Harvey.”
Algumas pessoas riram de nervoso, mas a maioria pareceu nauseada.
Não era a única pessoa que Tim havia matado ou mandara matar nos últimos quatro anos, mas era a primeira que Joe assistira morrer.
E agora o próprio Tim. Morto. Para nunca mais voltar. Como se jamais houvesse existido.
“Você já viu alguém ser morto?”, perguntou Joe a Emma.
Ela o encarou com firmeza por alguns instantes, fumando o cigarro e roendo uma das unhas. “Já.”
“Para onde você acha que eles vão?”
“Para a funerária.”
Ele a encarou até ela sorrir aquele seu sorriso pequenino, com os cachos dos cabelos dependurados em frente aos olhos.
“Acho que eles não vão para lugar nenhum”, ela disse.
“Estou começando a achar isso também”, disse Joe. Sentando-se, deu-lhe um beijo sôfrego, e ela retribuiu com a mesma sofreguidão. Seus tornozelos se cruzaram nas costas dele. Ela passou a mão por seus cabelos e ele olhou para dentro dela com a sensação de que, se parasse de olhar, perderia alguma coisa, alguma coisa importante que iria acontecer no rosto dela, algo que ele nunca mais esqueceria.
“E se não houver nenhum depois? E isto aqui”,ela pressionou o corpo contra o dele, “for tudo o que existe?”
“Eu adoro isto aqui”, disse ele.
Ela riu. “Eu também adoro.”
“Em geral? Ou comigo?”
Ela apagou o cigarro. Segurou o rosto dele com as mãos para beijá-lo. Balançou-se para a frente e para trás. “Com você.”
Mas não era só com ele que ela fazia aquilo, era?
Ainda havia Albert. Havia Albert.
Alguns dias depois, na sala de sinuca anexa ao cassino, Joe estava jogando sozinho quando Albert White adentrou o recinto com a segurança de alguém que esperava a remoção de qualquer obstáculo antes da sua chegada. Caminhando junto com ele vinha seu principal capanga, Brenny Loomis, que olhou direto para Joe do mesmo jeito que olhara para ele do chão da sala de pôquer.
Joe sentiu o coração ser transpassado por uma faca. E parar de bater. “Você deve ser o Joe”, disse Albert White.
Joe obrigou-se a se mexer. Apertou a mão estendida de Albert. “Isso, Joe Coughlin. Prazer em conhecê-lo.”
“É bom poder dar rosto a um nome, Joe.” Albert sacudiu sua mão como se estivesse bombeando água para apagar um incêndio.
“Sim, senhor.”
“Este é Brendan Loomis”, apresentou Albert. “Um amigo meu.”
Joe apertou a mão de Loomis, e foi como pôr a mão entre dois carros que estivessem dando ré um na direção do outro. Loomis inclinou a cabeça de lado, e seus olhos castanhos e miúdos passearam por seu rosto. Quando Joe conseguiu reaver a própria mão, teve de resistir ao impulso de esfregá-la. Enquanto isso, Loomis limpou a sua com um lenço de seda; de tão inexpressivo, seu rosto parecia uma pedra. Os olhos se afastaram de Joe e olharam para a sala de sinuca como se ele tivesse planos para o lugar. Era bom no manejo de armas e excelente no de facas, diziam, mas matava a maioria de suas vítimas de pancada mesmo.
“Já vi você antes, não é?”, indagou Albert.
Joe vasculhou sua expressão em busca de sinais de brincadeira. “Acho que não.”
“Já, sim. Bren, você já viu este cara antes?”
Brenny Loomis pegou a bola nove e a examinou. “Não.”
Joe sentiu um alívio tão avassalador que teve medo de perder o controle da própria bexiga.
“No Cadarço.” Albert estalou os dedos. “Você vai lá de vez em quando, não vai?”
“Vou”, respondeu Joe.
“É isso, é isso.” Albert deu um tapinha no ombro de Joe. “Quem administra esta casa agora sou eu. Sabe o que isso significa?”
“Não.”
“Que preciso que você saia do quarto em que mora.” Ele ergueu um dedo indicador. “Mas não quero que ache que estou pondo você na rua.”
“Tá bom.”
“É que este é um bom lugar. Temos várias ideias para ele.”
“Com certeza.”
Albert levou uma das mãos ao braço de Joe, logo acima do cotovelo. Sua aliança de casamento cintilou com a luz. Era de prata. Gravada com motivos de serpentes celtas. E com alguns diamantes incrustados também, dos pequenos.
“Pode ir pensando em que tipo de trabalho você quer fazer. Tá bom? Pense no assunto, só isso. Sem pressa. Mas saiba o seguinte: você não vai poder trabalhar sozinho. Não nesta cidade. Não mais.”
Joe desviou o olhar da aliança e da mão em seu braço para encarar os olhos simpáticos de Albert White.
“Não tenho a menor vontade de trabalhar sozinho, meu senhor. Chovesse ou fizesse sol, eu sempre pagava tributo a Tim Hickey.”
Albert White assumiu uma expressão de quem não tinha gostado de ouvir o nome de Tim Hickey ser pronunciado no local que agora lhe pertencia. Deu alguns tapinhas no braço de Joe.
“Eu sei que pagava. Sei também que fazia um bom trabalho. De primeira categoria. Mas nós não fazemos negócios com gente de fora. E sabe o que é um fornecedor independente? Uma pessoa de fora. Joe, nós estamos formando uma ótima equipe. Prometo a você... uma equipe incrível.” Ele se serviu uma bebida do decantador de Tim sem oferecer a mais ninguém. Levou a bebida até a mesa de sinuca e, tomando impulso, sentou-se na beirada e olhou para Joe. “Vou dizer uma coisa sem rodeios: você é inteligente demais para os trabalhos que tem feito. Essa sua parceria com dois patetas... escute, eles são ótimos amigos, tenho certeza, mas são burros, são carcamanos e vão morrer antes dos trinta. Mas você? Você pode continuar no caminho em que está. Sem compromissos, mas sem amigos. Com casa, mas sem lar.” Ele desceu da mesa de sinuca. “Se não quiser ter um lar, tudo bem. Prometo que tudo bem. Mas não vai poder atuar em lugar nenhum dentro dos limites da cidade. Se quiser cavar um lugar ao sol no litoral sul, vá em frente. Pode tentar também o litoral norte, se os italianos o deixarem vivo depois de saberem que você existe. Mas aqui, na cidade?” Ele apontou para o chão. “Isto aqui agora está organizado, Joe. Ninguém mais paga tributo; agora são todos funcionários. E patrões. Alguma parte do que eu disse ficou difícil de entender?”
“Não.”
“Ou confusa?”
“Não, sr. White.”
Albert White cruzou os braços e aquiesceu com um movimento de cabeça, olhando para os próprios sapatos. “Você tem alguma coisa em vista? Algum trabalho sobre o qual eu deva saber?”
Joe tinha gastado a última parte do dinheiro de Tim Hickey pagando o sujeito que lhe dera as informações de que precisava para o serviço de Pittsfield.
“Não”, respondeu. “Nada em vista.”
“Está precisando de dinheiro?”
“Como assim, senhor White?”
“Dinheiro.” Albert levou ao bolso a mão que já havia tocado o osso púbico de Emma. Que já havia segurado seus cabelos. Tirou duas notas de dez do bolo de dinheiro e as depositou na palma da mão de Joe com um estalo. “Não quero você pensando de barriga vazia.”
“Obrigado.”
Albert usou a mesma mão para dar um tapinha na bochecha de Joe. “Espero que tudo isso termine bem.”
* * *
“A gente podia ir embora”, disse Emma.
“Embora?”, repetiu ele. “Como assim, juntos?”
Os dois estavam no quarto dela no meio do dia, única hora em que suas três irmãs, três irmãos, mãe amargurada e pai feroz saíam de casa ao mesmo tempo.
“A gente podia ir embora”, repetiu Emma, como se ela própria não acreditasse.
“E ir para onde? Viver de quê? E juntos, você quer dizer?”
Ela não respondeu nada. Duas vezes ele lhe fizera a mesma pergunta, e duas vezes ela a havia ignorado.
“Não entendo muita coisa de trabalho honesto”, disse ele.
“Quem disse que precisa ser honesto?”
Ele passeou os olhos pelo quarto desenxabido que ela dividia com duas irmãs. Junto à janela, o papel de parede havia descolado da camada de gesso reforçado com crina, e duas das vidraças estavam rachadas. Eles podiam ver o vapor de sua respiração dentro do quarto.
“Teríamos de ir para bem longe”, disse ele. “Nova York é uma cidade fechada. Filadélfia também. Detroit, pode esquecer. Chicago, Kansas City, Milwaukee... são todas fechadas para um cara como eu, a menos que eu queira entrar para uma máfia qualquer como o mais chinfrim carregador de piano.”
“Então vamos para o Oeste, como já disse alguém. Ou para o Sul.” Ela encostou o nariz na lateral de seu pescoço e inspirou fundo; uma suavidade pareceu brotar dentro dela. “Vamos precisar de dinheiro para começar.”
“Temos um serviço agendado para sábado. Você está livre no sábado?”
“Para ir embora?”
“É.”
“No sábado à noite tenho que encontrar Você Sabe Quem.”
“Ele que se foda.”
“Bom, é, a ideia é essa mesmo”, retrucou ela.
“Não, eu quis dizer...”
“Eu sei o que você quis dizer.”
“Esse cara é mau para caralho”, disse Joe com os olhos pregados nas costas dela, naquela pinta cor de areia molhada.
Ela o fitou com um leve ar desapontado, mais desdenhoso ainda por ser tão leve. “Não é, não.”
“Está defendendo ele?”
“Estou dizendo que ele não é um cara mau. Não é o meu cara. Não é alguém que eu ame, nem admire nem nada. Mas ele não é mau. Pare de viver tentando tornar as coisas simples.”
“Ele matou Tim. Ou mandou matar.”
“E Tim por acaso ganhava a vida doando perus para os órfãos?”
“Não, mas...”
“Mas o quê? Ninguém é bom nem mau. Todo mundo só está tentando seguir o seu caminho.” Ela acendeu um cigarro e sacudiu o fósforo até este ficar preto e soltar fumaça. “Pare com essa mania escrota de julgar as pessoas.”
Ele não conseguia parar de olhar para a pinta, de se perder em sua areia, de rodopiar junto com ela. “Você vai mesmo se encontrar com ele.”
“Não comece. Se fôssemos mesmo sair da cidade, nesse caso...”
“Nós vamos sair da cidade.” Se fosse para garantir que nenhum outro homem jamais voltasse a tocá-la, Joe sairia até do país.
“E ir para onde?”
“Para Biloxi”, respondeu ele, percebendo assim que falou que na verdade não era má ideia. “Tim tinha vários amigos lá. Caras que eu conheci. Que mexem com rum. Albert compra a bebida dele no Canadá. Ele é um cara de uísque. Então, se formos para a Costa do Golfo... Biloxi, Mobile, quem sabe até Nova Orleans, e comprarmos as pessoas certas... talvez fique tudo bem. Aquilo lá é área de rum.”
Ela pensou no assunto por um tempo, e a pinta estremecia toda vez que ela se esticava em direção à cabeceira da cama para bater a cinza do cigarro. “Marquei de encontrar com ele para a inauguração daquele hotel novo. Aquele em Providence Street, sabe?”
“O Statler?”
Ela aquiesceu. “Dizem que todos os quartos têm rádio. Que o mármore é italiano.”
“E daí?”
“Se eu for lá, ele vai estar com a mulher. Só quer que eu vá porque, sei lá, porque fica excitado ao me ver quando está de braços dados com a mulher. E, depois disso, eu sei com certeza que ele vai passar uns dias em Detroit para conversar com novos fornecedores.”
“E daí?”
“E daí que isso vai nos dar o tempo de que precisamos. Quando ele voltar a me procurar, já teremos tido uma frente de três ou quatro dias.”
Joe pensou a respeito. “Nada mau.”
“Eu sei”, disse ela com outro sorriso. “Você acha que consegue ficar apresentável e passar no Statler no sábado? Umas sete, por aí?”
“É claro que consigo.”
“Aí nós vamos embora”, disse ela, olhando para ele por cima do ombro. “Mas chega de dizer que Albert é um cara mau. Meu irmão arrumou emprego por causa dele. No inverno passado, ele comprou um sobretudo para minha mãe.”
“Tudo bem, então.”
“Eu não quero brigar.”
Joe tampouco queria brigar. Sempre que o fazia, ele perdia, e se pegava pedindo desculpas por coisas que não tinha feito, que nem sequer pensara em fazer, pedindo desculpas por não as ter feito nem pensado em fazê-las. Chegava a ficar com dor de cabeça.
Deu-lhe um beijo no ombro. “Então não vamos brigar.”
Ela bateu os cílios para ele. “Oba.”
Na fuga após o assalto ao banco First National de Pittsfield, Dion e Paolo haviam acabado de pular para dentro do carro quando Joe deu ré e bateu no poste de rua porque estava pensando na pinta. Na cor de areia molhada, no jeito como a pinta se movia entre suas escápulas quando ela se virava para trás para olhar para ele e lhe dizer que talvez o amasse, no jeito como também havia se movido quando ela dissera que Albert White não era um cara assim tão mau. Porra, na verdade o velho Albert era um cara nota dez. Um amigo dos pobres, que comprava um sobretudo de inverno para a sua mãe contanto que você usasse o seu corpinho para garantir o calor dele. A pinta tinha a forma de uma borboleta, mas era irregular e bem definida nas bordas, e Joe pensou que isso talvez também pudesse resumir Emma, depois disse a si mesmo para esquecer tudo isso: os dois iriam embora da cidade nessa mesma noite, e todos os seus problemas estariam resolvidos. Ela o amava. Não era isso que importava? Tudo o mais iria desaparecer no retrovisor. Ele queria tudo o que dizia respeito a Emma Gould; queria no café da manhã, no almoço, no jantar e no lanche. Queria pelo resto da vida — as sardas em suas clavículas e no osso do nariz, a reverberação que sobrava em sua garganta quando ela terminava de rir, o jeito como ela conseguia transformar em duas sílabas a palavra quatro, four,que na realidade só tinha uma.
Dion e Paolo saíram correndo de dentro do banco.
Pularam no banco de trás.
“Vamos”, disse Dion.
Um sujeito alto e careca, usando uma camisa cinza e suspensórios pretos, saiu do banco armado com um cassetete. Cassetete não era arma, mas mesmo assim podia causar problemas caso o cara chegasse bastante perto.
Joe enfiou uma primeira com a base da mão e pisou no acelerador, mas o carro foi para trás em vez de ir para a frente. Cinco metros para trás. Os olhos do cara do cassetete saltaram das órbitas de tanta surpresa.
“Ei! Ei!”, gritou Dion.
Joe pisou no freio e na embreagem ao mesmo tempo. Desengatou violentamente a ré e engatou a primeira, mas mesmo assim bateram no poste. O impacto não foi grave, apenas constrangedor. O caipira de suspensórios passaria o resto da vida contando para a mulher e os amigos como havia assustado tanto três bandidos armados que eles tinham engatado a primeira, em vez de dar ré, só para fugir dele.
Quando o carro se projetou para a frente, os pneus levantaram poeira e pedrinhas do chão de terra batida e as lançaram no rosto do cara do cassetete. A essa altura, já havia outro cara em pé em frente ao banco. Estava de camisa branca e calça marrom. Ele estendeu o braço. Joe viu o cara no espelho retrovisor e notou que o braço dele dava um tranco. Por um instante não entendeu por quê, mas em seguida atinou. “Abaixem-se”, falou, e Dion e Paolo se deitaram no banco de trás. O braço do cara deu outro tranco, depois um terceiro ou quarto, e o espelho lateral se estilhaçou, fazendo chover vidro no chão de terra batida.
Joe dobrou em East Street, encontrou o beco que eles haviam localizado na semana anterior, dobrou à esquerda para entrar nele e pisou com tudo no pedal do acelerador. Por vários quarteirões, foi seguindo em paralelo aos trilhos de trem que passavam atrás das fábricas. A essa altura, já podiam partir do princípio de que a polícia fora acionada, não a ponto de estar montando barreiras na estrada ou algo assim, mas o suficiente para seguir o rastro de pneus que saía da rua de terra batida perto do banco e saber a direção genérica que haviam tomado.
Eles haviam roubado três carros naquela manhã, todos em Chicopee, pouco menos de cem quilômetros ao sul. Além do Auburn em que estavam agora, tinham roubado um Cole preto com pneus carecas e um Essex Coach 1924 com um motor que arranhava.
Joe atravessou a linha do trem e percorreu mais um quilômetro e meio margeando o Silver Lake até chegar a uma fundição que havia pegado fogo alguns anos antes, e cuja casca carbonizada pendia para a direita em meio a um campo de mato e tabua. Ambos os carros estavam à sua espera quando Joe entrou pelos fundos do prédio, onde a parede já havia desmoronado tempos antes, e eles estacionaram junto ao Cole e saltaram do Auburn.
Dion levantou Joe pelas lapelas do sobretudo e o empurrou para cima do capô do Auburn. “Que porra deu em você?”
“Foi um erro”, disse Joe.
“Semana passada era um erro”, retrucou Dion. “Esta semana já virou padrão, caralho.”
Joe não podia negar. Mesmo assim falou: “Tire as mãos de mim.”
Dion soltou as lapelas de Joe. Soltando o ar com força pelas narinas, apontou para Joe um dedo em riste. “Você está fazendo cagada.”
Joe recolheu os chapéus, os lenços e as armas e os enfiou dentro de um saco junto com o dinheiro. Pôs o saco na traseira do Essex Coach. “Eu sei.”
Dion estendeu as mãos gordas para a frente. “Nós somos parceiros desde moleques, porra, mas agora a coisa está preta.”
“É.” Joe concordou, pois não via motivo para mentir em relação ao óbvio.
Os carros de polícia — quatro ao todo — surgiram por uma parede de mato marrom na outra ponta do descampado, atrás da fundição. O mato tinha a cor de um leito de rio e uns dois metros de altura. As viaturas o achataram e revelaram mais atrás uma pequena comunidade formada por barracas. Uma mulher de xale cinza e seu bebê estavam inclinados por cima de uma fogueira recém-apagada, tentando atrair para dentro dos casacos o pouco de calor que restava.
Joe pulou para dentro do Essex e guiou o carro para longe da fundição. Os irmãos Bartolo passaram por ele a bordo do Cole, cuja traseira derrapou quando eles chegaram a um trecho de terra batida vermelha e seca. A terra acertou o para-brisa de Joe e o cobriu. Ele se debruçou pela janela e pôs-se a limpar a sujeira com o braço esquerdo enquanto continuava a dirigir com o direito. O chão irregular fez o Essex dar um pulo bem alto, e alguma coisa mordeu a orelha de Joe. Quando ele tornou a pôr a cabeça para dentro do carro, conseguiu ver bem melhor pelo vidro, mas agora sangue escorria de sua orelha, entrava por baixo da gola e descia pelo peito.
Uma série de pingues e tuns acertou a janela traseira, como o barulho de alguém atirando moedas em um telhado de zinco, e então a vidraça se espatifou e uma bala passou raspando no console. Uma viatura de polícia surgiu à esquerda de Joe, e então uma segunda à direita. A da direita tinha um policial no banco de trás que apoiou o cano de uma Thompson na moldura da janela e abriu fogo. Joe pisou no freio com tanta força que a mola de aço do assento fez pressão na parte de trás das costelas. As janelas do carona explodiram. Depois foi a vez do para-brisa dianteiro. O console cuspiu os próprios pedaços em cima de Joe e do banco dianteiro.
A viatura à direita tentou frear enquanto virava na sua direção. Seu nariz se levantou e ela decolou do chão como erguida por uma rajada de vento. Joe teve tempo de vê-la aterrissar de lado antes de a outra viatura bater na traseira de seu Essex e de um rochedo aparecer no meio do mato, pouco antes da linha das árvores.
A frente do Essex se espatifou e o resto do carro foi projetado para a direita, levando Joe consigo. Ele só sentiu que tinha saído do carro quando atingiu a árvore. Ficou caído ali por muito tempo, coberto de cacos de vidro e agulhas de pinheiro, todo grudento por causa do próprio sangue. Pensou em Emma e pensou no pai. A mata cheirava a cabelo queimado, e ele verificou os pelos do braço e a cabeça só para ter certeza, mas estava tudo bem. Sentou-se no meio das agulhas de pinheiro e ficou esperando a polícia de Pittsfield chegar para prendê-lo. Uma fumaça flutuava entre as árvores. Era preta, oleosa e não muito espessa. Movia-se entre os troncos das árvores como à procura de alguém. Depois de algum tempo, ele percebeu que talvez a polícia não fosse aparecer.
Quando se levantou e olhou para além do Essex destruído, não conseguiu ver a segunda viatura em lugar nenhum. Pôde ver a primeira, a que o tinha alvejado com a Tommy: estava caída de lado no descampado, a quase vinte metros de onde ele a vira quicar pela última vez.
Suas mãos tinham sido feridas por vidro ou fragmentos flutuantes no interior do carro. As pernas estavam bem. A orelha continuava sangrando. Ao encontrar a vidraça traseira do Essex do lado do motorista intacta, olhou para o próprio reflexo e viu por quê — não tinha mais o lóbulo esquerdo. Este fora removido como pelo golpe da navalha de um barbeiro. Para lá do reflexo, Joe viu a bolsa de couro que continha o dinheiro e as armas. A porta não quis abrir de primeira, e ele teve de apoiar os pés na porta do motorista, agora irreconhecível como tal. Puxou com força, porém, puxou até se sentir enjoado e tonto. Bem na hora em que estava pensando que provavelmente deveria ir procurar uma pedra, a porta se abriu com um rangido alto.
Pegou a bolsa e se afastou do descampado, mais para dentro da mata. Chegou a uma pequena árvore seca em chamas, com os dois galhos maiores curvados em direção à bola de fogo no centro, como um homem que tenta abafar labaredas na própria cabeça. Duas marcas pretas e oleosas de pneu achatavam a vegetação rasteira à sua frente, e algumas folhas flutuavam queimando pelo ar. Encontrou uma segunda árvore e um pequeno arbusto em chamas, e as marcas pretas de pneu foram ficando mais pretas e mais oleosas. Dali a uns quarenta e cinco metros, chegou a um pequeno lago. Um vapor ondulava ao longo das margens e se desprendia da superfície da água, e no início Joe não entendeu o que estava vendo. A viatura de polícia que havia batido nele por trás adentrara a água em chamas e agora estava no meio do lago com água até as janelas, o restante carbonizado, e algumas chamas azuis pegajosas ainda a dançar sobre o teto. As janelas haviam explodido. Os buracos abertos pela Thompson no console traseiro pareciam os fundilhos de latas de cerveja amassadas. O motorista estava meio dependurado para fora da porta. A única parte dele que não estava preta eram os olhos, tornados mais brancos ainda pelo fato de o resto estar carbonizado.
Joe entrou no lago até chegar junto à porta do carona da viatura, com água logo abaixo da cintura. Não havia mais ninguém dentro do carro. Embora isso significasse chegar bem mais perto do cadáver, enfiou a cabeça pela janela do carona. O calor emanava em ondas da carne queimada do motorista. Tirou a cabeça do carro, certo de ter visto dois policiais na viatura que o perseguira pelo descampado. Sentiu outra lufada com cheiro de carne queimada e abaixou a cabeça.
O outro policial estava caído no lago a seus pés. Olhos erguidos do leito arenoso, tinha o lado esquerdo do corpo tão carbonizado quanto o do companheiro, e a carne do lado direito estava chamuscada, mas ainda branca. Um rapaz mais ou menos da mesma idade de Joe, talvez um ano mais velho. Seu braço direito apontava para cima. Ele provavelmente havia usado o braço para sair do carro em chamas e caído na água de costas, e o braço ficara assim quando morrera.
Apesar disso, parecia estar apontando para Joe, e sua mensagem era clara:
Foi culpa sua.
Sua. De mais ninguém. De mais ninguém vivo, pelo menos.
Você é o primeiro cupim.
4
UM ROMBO NO CENTRO DAS COISAS
De volta à cidade, desovou o carro roubado em Lenox e o substituiu por um Dodge 126 que encontrou estacionado em Pleasant Street, Dorchester. Foi com ele até a K Street, no sul de Boston, e ficou sentado na mesma rua da casa em que fora criado para considerar suas alternativas. Não eram muitas. Quando a noite caísse, provavelmente estariam esgotadas.
A notícia saiu em todas as edições vespertinas:
TRÊS POLICIAIS DE PITTSFIELD MORTOS
TRÊS POLICIAIS DE PITTSFIELD MORTOS
(The Boston Globe)
TRÊS AGENTES DE POLÍCIA DE MASSACHUSETTS BRUTALMENTE ASSASSINADOS
TRÊS AGENTES DE POLÍCIA DE MASSACHUSETTS BRUTALMENTE ASSASSINADOS
(The Evening Standard)
MASSACRE DE POLICIAIS NO OESTE DE MASSACHUSETTS
MASSACRE DE POLICIAIS NO OESTE DE MASSACHUSETTS
(The American)
Os dois homens que Joe havia encontrado no lago foram identificados como Donald Belinski e Virgil Orten. Ambos haviam deixado esposas. Orten deixara também dois filhos. Após estudar suas fotos por algum tempo, Joe concluiu que Orten era o que estava ao volante e Belinski, o que havia apontado o dedo para ele da água.
Sabia que o verdadeiro motivo pelo qual eles estavam mortos era que um de seus companheiros da lei fora burro o suficiente para disparar a porra de uma Tommy de um carro sacolejando por uma estrada irregular. Isso ele sabia. Sabia também que era o cupim de Hickey, e que Donald e Virgil jamais teriam estado naquele descampado caso ele e os irmãos Bartolo não tivessem ido à sua pequena cidade assaltar um de seus pequenos bancos.
O terceiro policial morto, Jacob Zobe, era um agente da patrulha do estado que havia parado um carro no limite da floresta estadual de October Mountain. Levara um tiro na barriga que o havia feito se curvar, e um segundo no alto da cabeça que pusera fim à sua vida. Ao fugir de carro, o assassino, ou assassinos, passara por cima de seu tornozelo, partindo o osso ao meio.
Os tiros pareciam obra de Dion. Era assim que ele brigava: primeiro socava o adversário na barriga para fazê-lo dobrar o corpo, depois golpeava a cabeça até derrubá-lo de vez. Até onde Joe sabia, Dion nunca matara ninguém antes, mas já chegara perto algumas vezes e odiava policiais.
Os investigadores ainda não haviam identificado nenhum suspeito, pelo menos não para o público. Dois deles eram descritos como “corpulentos” e “de ascendência e aspecto estrangeiros”, enquanto o terceiro — possivelmente também estrangeiro — havia levado um tiro no rosto. Joe examinou o próprio reflexo no espelho retrovisor. Tecnicamente era verdade, pensou: o lóbulo da orelha fica preso à cabeça. Ou melhor, no seu caso, ficava.
Embora ninguém ainda soubesse os seus nomes, um artista do Departamento de Polícia de Pittsfield havia desenhado seus retratos falados. Assim, enquanto a maioria dos jornais publicou fotos dos três policiais mortos na metade inferior da primeira página, na metade superior foram publicados desenhos de Dion, Paolo e Joe. Dion e Paolo estavam mais papudos do que na realidade, e Joe teria de perguntar a Emma se o seu rosto era mesmo tão magro e tão emaciado assim ao vivo, mas, tirando isso, a semelhança era notável.
Uma busca havia sido lançada em quatro estados. A polícia federal fora consultada, e estavam dizendo que iria participar da caçada.
A essa altura, seu pai já devia ter visto os jornais. Seu pai, Thomas Coughlin, subcomandante do Departamento de Polícia de Boston.
Seu filho, que havia participado da morte de três policiais.
Desde a morte da mãe de Joe, dois anos antes, seu pai trabalhava até cair de exaustão seis dias por semana. Com o próprio filho sendo procurado, mandaria pôr uma cama de campanha no escritório, e provavelmente só voltaria para casa depois de solucionado o caso.
A residência da família era uma casa geminada de quatro andares. A estrutura impressionava: uma fachada curva feita de tijolos vermelhos, com todos os cômodos centrais dando para a rua e equipados com bancos também curvos nas janelas. Uma casa de escadarias de mogno, portas de correr e piso de tábuas corridas, com seis dormitórios, dois banheiros — ambos com água encanada — e uma sala de jantar digna do salão nobre de um castelo inglês.
Quando uma mulher certa vez perguntou a Joe como ele podia vir de um lar tão esplêndido e de uma família tão boa e mesmo assim ter virado gângster, sua resposta teve duas partes: (a) ele não era gângster, era um fora da lei; (b) vinha de uma casa esplêndida, não de um lar esplêndido.
Joe entrou na casa do pai. Do telefone da cozinha, ligou para a residência dos Gould, mas ninguém atendeu. A bolsa que levara consigo para dentro da casa continha sessenta e dois mil dólares. Mesmo dividida por três, a quantia bastava para qualquer homem razoavelmente frugal viver dez anos, talvez quinze. Joe não era um homem frugal, de modo que calculou que fosse durar quatro anos normais para ele. Se estivesse fugindo, porém, o dinheiro duraria um ano e meio. Não mais do que isso. Antes de terminado esse período, ele teria conseguido pensar em alguma coisa. Era esse o seu talento: raciocinar de improviso.
Não resta dúvida, disse uma voz que soou estranhamente parecida com a de seu irmão mais velho, de que até agora isso funcionou muito bem.
Joe ligou para o bar clandestino de tio Bobo, mas obteve o mesmo resultado da casa dos Gould. Então se lembrou que Emma deveria comparecer à festa de inauguração no Hotel Statler naquela tarde, às seis. Tirou o relógio do bolso do colete: faltavam dez para as quatro.
Duas horas para matar em uma cidade que, a essa altura, estava querendo matar a ele.
Era tempo demais para ficar exposto. Nesse intervalo, já teriam descoberto seu nome, seu endereço, e conseguido uma lista de comparsas conhecidos e locais por ele frequentados. Bloqueariam todas as estações de trem e terminais de ônibus, mesmo os rurais, e montariam todas as barreiras possíveis nas estradas.
Mas isso era uma faca de dois gumes. Os bloqueios rodoviários impediriam a entrada na cidade partindo do princípio de que ele ainda estava fora dela. Ninguém nunca iria imaginar que estivesse lá dentro, planejando tornar a sair sem que ninguém percebesse. E nunca iriam imaginar isso porque só o criminoso mais burro do mundo correria o risco de voltar para a única cidade que já havia chamado de lar após o maior crime cometido na região em cinco ou seis anos.
O que fazia dele o criminoso mais burro do mundo.
Ou então o mais inteligente. Porque decerto o único lugar em que ninguém estava procurando agora era aquele bem debaixo de seu nariz.
Ou pelo menos foi isso que ele disse a si mesmo.
O que ainda poderia fazer — o que deveria ter feito em Pittsfield — era sumir. Não dali a duas horas. Agora. Não depois de esperar por uma mulher que talvez decidisse não acompanhá-lo nas atuais circunstâncias. Simplesmente ir embora com a roupa do corpo e uma bolsa de dinheiro na mão. As estradas estavam todas sendo vigiadas, sim. Os trens e ônibus também. Além disso, mesmo que conseguisse chegar às terras agrícolas a sul e oeste da cidade e roubar um cavalo, de nada adiantaria, pois não sabia montar.
Restava então o mar.
Ele precisava de um barco, mas não uma embarcação de passeio nem uma obviamente dedicada ao contrabando de rum, como um esquife ou um garvey de fundo chato. Precisava de um barco de trabalhador, com cunhos enferrujados, velame puído e o convés ocupado por uma imensa pilha de gaiolas de lagosta amassadas. Que estivesse atracado em Hull, Green Harbor ou Gloucester. Se partisse às sete, provavelmente o pescador só daria pela falta do barco às três ou quatro da manhã.
Ou seja, ele agora estava roubando de trabalhadores.
Só que o barco estaria registrado. Teria de estar, caso contrário ele procuraria outro. Pegaria o endereço no registro e mandaria dinheiro suficiente para o dono comprar dois outros barcos, ou então largar de uma vez por todas a porra da pesca à lagosta.
Ocorreu-lhe que pensar assim talvez explicasse por que, mesmo depois de todos os trabalhos que fizera, ele raramente tinha muito dinheiro no bolso. Às vezes parecia que só roubava dinheiro de um lugar para entregá-lo em outro. Mas também roubava porque era divertido, porque era bom nisso, e porque roubar conduzia a outras coisas nas quais ele também era bom, como a venda ilegal de bebidas e o contrabando de rum, motivo pelo qual, aliás, entendia um pouco de barcos. No último mês de junho, conduzira um barco pelo lago Huron de uma aldeia de pescadores sem nome em Ontario até Bay City, em Michigan, outro de Jacksonville até Baltimore em outubro, e no inverno anterior mesmo transportara caixotes de rum recém-destilado de Sarasota até Nova Orleans pelo golfo do México, onde torrara todo seu lucro em um único fim de semana no Bairro Francês em pecados cuja lembrança até hoje se resumia a fragmentos.
Assim sendo, sabia pilotar a maioria das embarcações, ou seja, podia roubar a maioria das embarcações. Poderia sair por aquela porta e estar no litoral sul de Massachusetts dali a meia hora. Levaria um pouco mais para chegar ao litoral norte, mas, nessa época do ano, a escolha de barcos decerto seria maior lá. Se partisse de Gloucester ou Rockport, poderia chegar a Nova Scotia em três ou quatro dias. Então mandaria buscar Emma depois de um ou dois meses.
Tempo que lhe pareceu um pouco longo demais.
Mas ela iria esperar por ele. Ela o amava. Nunca tinha dito isso, era bem verdade, mas ele sentia que queria dizer. Ela o amava. Ele a amava.
Ela iria esperar.
Talvez devesse simplesmente passar no hotel. Entrar lá rapidinho, só para ver se a encontrava. Se desaparecessem os dois, seria impossível encontrá-los. Se ele desaparecesse e depois mandasse buscá-la, porém, a essa altura a polícia estadual ou federal já teria descoberto quem ela era e o que Emma significava para ele, e ela apareceria em Halifax acompanhada pelas autoridades. Ele abriria a porta para recebê-la, e ambos seriam abatidos por uma chuva de balas.
Ela não iria esperar.
Ou ele partia com ela agora, ou ficava sem ela para sempre.
Olhou-se no vidro do armário de louça da mãe e se lembrou do motivo pelo qual estava ali, para começo de conversa — aonde quer que decidisse ir, não chegaria muito longe vestido daquele jeito. O ombro esquerdo do sobretudo estava negro de sangue, os sapatos e barras das calças duros de lama, a camisa rasgada por causa do mato e salpicada de sangue.
Na cozinha, abriu a caixa de pão e tirou lá de dentro uma garrafa de rum A. Finke’s Widow. Ou Finke’s, como quase todo mundo dizia. Tirou os sapatos e, com eles e o rum na mão, subiu a escada dos fundos até o quarto de dormir do pai. No banheiro, lavou o máximo de sangue da orelha que conseguiu, tomando cuidado para não tocar o centro da casquinha. Quando teve certeza de que o ferimento não tornaria a sangrar, deu alguns passos para trás e o avaliou em comparação com a outra orelha e com o resto do próprio rosto. No quesito deformidades, aquilo não iria chamar a atenção de ninguém depois de a casquinha cair. Mesmo agora, a maior parte da casquinha preta estava presa à parte inferior da orelha; perceptível, sem dúvida, mas não do mesmo jeito que um olho roxo ou um nariz quebrado.
Tomou alguns goles do Finke’s enquanto escolhia um terno no armário do pai. Havia quinze ao todo, uns treze a mais do que permitia o salário de um policial. O mesmo valia para os sapatos, camisas, gravatas e chapéus. Joe escolheu um terno marrom-avermelhado de listras, com abotoamento simples, da marca Hart Schaffner & Marx, e uma camisa branca da Arrow. A gravata de seda era preta com listras vermelhas diagonais a cada dez centímetros mais ou menos, os sapatos eram da Nettleton, pretos, e o chapéu, um feltro da Knapp macio como o peito de uma pomba. Joe despiu as próprias roupas e as dobrou cuidadosamente no chão. Pôs a pistola e os sapatos por cima, vestiu as roupas do pai, depois tornou a pôr a pistola no cós da calça, na base das costas.
A julgar pelo comprimento da calça, ele e o pai no final das contas não tinham exatamente a mesma altura. Seu pai era um pouco mais alto. E o tamanho do chapéu era um pouco menor que o de Joe. Ele resolveu o problema do chapéu posicionando-o um pouco para trás do cocuruto, para que parecesse elegante. Quanto ao comprimento da calça, dobrou as bainhas e usou alfinetes de segurança da mesa de costura da falecida mãe para prendê-las no lugar.
Levando as roupas usadas e a garrafa de rum de boa qualidade, desceu até o escritório do pai. Mesmo agora, não podia negar que cruzar o limiar daquele cômodo sem o pai presente parecia um sacrilégio. Ficou parado na soleira e escutou a casa — o tique-taque dos radiadores de ferro fundido, o arrastar dos martelos da campainha do relógio de pé no hall de entrada que se preparava para bater as quatro horas. Mesmo tendo certeza de que a casa estava vazia, sentiu-se observado.
Quando os martelos de fato bateram na campainha, Joe entrou no escritório.
A escrivaninha ficava em frente a um janelão alto, com vista para a rua. Era uma mesa com dois gaveteiros, daquelas feitas para serem usadas por duas pessoas sentadas frente a frente, vitoriana e rebuscada, fabricada em Dublin em meados do século anterior. O tipo de escrivaninha com o qual nenhum filho de meeiro do lado mais escroto de Clonakilty jamais poderia ter imaginado um dia enfeitar sua casa. O mesmo se podia dizer sobre o aparador de feitio semelhante posicionado abaixo da janela, sobre o tapete oriental, sobre as grossas cortinas cor de âmbar, os decantadores Waterford, as estantes de carvalho e os livros encadernados em couro que seu pai nunca se dava ao trabalho de ler, os varões de bronze das cortinas, o sofá e poltronas de couro antigos e o umidor de nogueira.
Joe abriu um dos armários abaixo das estantes e se agachou de frente para o cofre que encontrou ali. Fez a combinação — 3-12-10, os meses de nascimento dele e dos dois irmãos — e abriu o cofre. Lá dentro havia parte das joias da mãe, quinhentos dólares em dinheiro vivo, a escritura da casa, as certidões de nascimento dos pais, uma pilha de papéis que Joe não se deu ao trabalho de examinar, e pouco mais de mil dólares em títulos do Tesouro nacional. Joe retirou todos esses objetos, que arrumou no chão junto à porta do armário. No fundo do cofre havia uma parede feita do mesmo aço grosso que o restante. Joe a removeu usando os polegares para apertar com força os cantos superiores e a depositou no chão do primeiro cofre enquanto encarava o mostrador do segundo.
A segunda combinação fora bem mais difícil de descobrir. Havia tentado todos os aniversários da família sem chegar a lugar algum. Havia tentado os números das delegacias em que o pai trabalhara ao longo dos anos. Nada também. Ao se lembrar que o pai às vezes dizia que sorte, azar e morte sempre vinham em trincas, tentara todas as combinações do número três. Nada. Começara a tentar aos catorze anos. Um belo dia, quando estava com dezessete, havia reparado em uma correspondência deixada pelo pai em cima da escrivaninha — uma carta para um amigo que se tornara comandante do corpo de bombeiros em Lewiston, Maine. A carta fora datilografada na Underwood do pai e estava repleta de mentiras que davam voltas e mais voltas pelo papel como uma fita — “Ellen e eu somos abençoados, continuamos apaixonados como no dia em que nos conhecemos...” “Aiden se recuperou bastante bem dos sinistros acontecimentos de setembro de 19...” “Connor está cada vez melhor de sua doença...” e “Parece que Joseph vai entrar para Boston College no outono. Está falando em trabalhar no mercado de ações...” Ao final de toda essa baboseira, seu pai havia assinado Seu amigo, txc. Era assim que assinava tudo. Nunca escrevia o nome completo, como se fazer isso fosse comprometê-lo.
TXC.
Thomas Xavier Coughlin.
TXC.
20-24-3.
Joe girou o mostrador até obter esses números, e o segundo cofre se abriu com um estalo agudo das dobradiças.
O espaço tinha cerca de meio metro de profundidade. Três quartos dele estavam cheios de dinheiro. Muitos tijolos de dinheiro, bem presos por elásticos vermelhos. Algumas notas tinham entrado no cofre antes mesmo de Joe nascer, e outras deviam ter sido postas ali na semana anterior. Uma vida inteira de subornos, propinas e vantagens ilícitas. Seu pai — um pilar da comunidade da Cidade na Colina, da Atenas da América, do Centro do Universo — era mais criminoso do que Joe jamais poderia almejar ser. Isso porque Joe nunca aprendera a mostrar mais de um rosto para o mundo, enquanto seu pai tinha tantos rostos à disposição que a questão era saber qual era o original e quais as imitações.
Joe sabia que, se limpasse o cofre agora, teria o suficiente para passar dez anos foragido. Ou então, se conseguisse chegar a um lugar longe o suficiente para que parassem de procurá-lo, poderia pagar para entrar no refino de açúcar cubano ou na destilação do melaço, virar um rei pirata dali a três anos, e passar o resto de seus dias sem nunca mais se preocupar com um teto ou com uma refeição quente.
Mas ele não queria o dinheiro do pai. Havia roubado suas roupas porque a ideia de sair da cidade vestido como o velho filho da puta lhe agradava, mas preferiria quebrar as próprias mãos a usá-las para gastar o dinheiro do pai.
Pôs as roupas cuidadosamente dobradas e os sapatos enlameados por cima do dinheiro sujo do pai. Pensou em deixar um bilhete, mas não conseguiu pensar em mais nada que quisesse dizer, de modo que fechou a porta e girou o mostrador. Recolocou no lugar a parede falsa do primeiro cofre e o trancou também.
Percorreu o escritório por alguns instantes, observando-o pela última vez. Tentar encontrar Emma durante um evento no qual estaria presente a maioria dos figurões da cidade, em que os participantes chegariam de limusine e só quem tivesse convite poderia entrar, seria o cúmulo da insanidade. No frescor do escritório do pai, talvez um pouco do pragmatismo do velho, por mais implacável que fosse, finalmente tenha surtido efeito em seu filho. Joe precisava usar o que os deuses lhe haviam oferecido — uma rota de fuga da mesma cidade na qual esperavam que entrasse. O tempo, contudo, não estava a seu favor. Precisava sair por aquela porta, entrar naquele Dodge roubado e seguir rumo ao norte como se a própria estrada estivesse pegando fogo.
Olhou pela janela para a K Street no entardecer úmido de primavera e lembrou a si mesmo que ela o amava e que iria esperar.
* * *
Na rua, sentado dentro do Dodge, ficou observando a casa em que nascera, a casa que havia moldado o homem que agora era. Pelos padrões dos irlandeses de Boston, fora criado em berço esplêndido. Nunca fora dormir com fome, nunca sentira o contato da rua através das solas dos sapatos. Recebera instrução, primeiro das freiras, depois dos jesuítas, até largar a escola no penúltimo ano. Em comparação com a maioria das pessoas que encontrava em sua atividade profissional, tivera uma criação decididamente privilegiada.
Havia porém um rombo no centro dessa criação, uma grande distância entre Joe e os pais que refletia a distância entre sua mãe e seu pai e entre sua mãe e o mundo em geral. Antes de ele nascer, os pais haviam travado uma guerra, guerra esta concluída com uma paz tão frágil que reconhecer sua existência a faria em pedaços, de modo que ninguém jamais tocava no assunto. Mas o campo de batalha entre os dois continuara a existir; ela se sentava de um lado, ele de outro. E Joe ficava no meio, entre as trincheiras, no chão de terra batida calcinado. O rombo no centro de sua casa era um rombo no centro de seus pais, e um dia esse rombo havia encontrado o centro de Joe. Houve um tempo, na realidade muitos anos inteiros de sua infância, em que ele tivera esperança de que tudo pudesse mudar. No entanto, não conseguia mais recordar por que se sentira assim. As coisas nunca eram como deveriam ser, elas eram o que eram: nisso consistia a simples verdade, verdade que não mudava só porque a pessoa assim o desejava.
Foi de carro até o terminal rodoviário da Viação Costa Leste, na St. James Avenue. Era um prédio baixo de tijolos amarelos cercado por outros bem mais altos, e Joe arriscou que qualquer agente da lei à sua procura deveria estar posicionado nos terminais rodoviários do lado norte do prédio, não perto dos guarda-volumes no canto sudoeste.
Entrou pela porta de saída que ficava desse lado e misturou-se à multidão do horário de pico. Deixou a multidão agir a seu favor, sem nunca contrariar o fluxo, sem nunca tentar passar na frente de ninguém. Pela primeira vez na vida, não teve do que reclamar em relação à baixa estatura. Assim que chegou ao ponto mais compacto da multidão, sua cabeça se tornou apenas mais uma a sacudir junto a tantas outras. Localizou dois policiais junto às portas do terminal e um no meio das pessoas, a uns vinte metros de onde estava.
Saiu do meio do mar de gente e adentrou a tranquilidade da área reservada aos guarda-volumes. Era ali, pelo simples fato de estar sozinho, que estava mais em evidência. Já havia retirado três mil dólares da bolsa e tornado a fechá-la com a fivela. Segurava a chave do escaninho 217 na mão direita, e a bolsa na esquerda. Dentro do 217 havia 7435 dólares, doze relógios de bolso e treze de pulso, dois grampos de dinheiro feitos de prata de lei, um prendedor de gravata de ouro e joias femininas variadas que ele nunca chegara a vender por desconfiar que os intermediários estivessem tentando lhe passar a perna. Foi até o escaninho com passos calmos, ergueu a mão direita que só tremeu de leve e o abriu.
Atrás dele, alguém chamou: “Ei!”.
Joe manteve os olhos fixos à frente. O tremor em sua mão se transformou em um espasmo quando ele puxou a porta do escaninho para trás. “Ei, estou falando com você!”
Joe enfiou a bolsa dentro do escaninho e fechou a porta.
“Ei, você! Ei!”
Joe girou a chave, trancou a porta e pôs a chave no bolso.
“Ei!”
Joe se virou, já visualizando o policial à sua espera, com o revólver de serviço em punho, provavelmente jovem, provavelmente nervoso...
Um bêbado estava sentado no chão junto a uma lata de lixo. Esquálido, parecia feito apenas de olhos vermelhos, bochechas também vermelhas e tendões. Projetou o maxilar na direção de Joe.
“Está olhando para quê, porra?”, perguntou.
A risada escapou da boca de Joe feito um latido. Ele pôs a mão no bolso e com ela retirou uma nota de dez dólares. Abaixou-se e entregou o dinheiro ao velho bêbado.
“Para você, coroa. Estou olhando para você.”
O homem respondeu com um arroto, mas Joe já estava se afastando, perdido na multidão.
Do lado de fora, tomou o rumo do leste pela St. James em direção à luz de dois holofotes que se moviam de um lado para o outro nas nuvens baixas acima do hotel novo. Acalmou-se por alguns instantes ao pensar no dinheiro guardado bem seguro dentro do escaninho até ele decidir voltar para buscá-lo. Decisão essa um tanto incomum quando se planejava passar uma vida inteira fugindo, pensou, ao virar na Essex Street.
Se vai sair do país, por que deixar o dinheiro aqui?
Para poder voltar e buscá-lo.
E por que precisaria voltar para buscá-lo?
Caso eu não consiga me safar hoje à noite.
Aí está sua resposta.
Não há resposta. Que resposta?
Você não queria que eles encontrassem o dinheiro com você.
Exatamente.
Porque sabe que vai ser pego.
5
TRABALHO BRAÇAL
Entrou no Hotel Statler pela porta dos empregados. Quando um carregador e depois um lavador de pratos lhe lançaram olhares curiosos, ergueu o chapéu e lhes lançou sorrisos seguros e saudações com os dois dedos erguidos, como um bon vivant evitando a aglomeração na porta da frente, e eles retribuíram com meneios de cabeça e sorrisos.
Ao passar pela cozinha, pôde ouvir um piano, uma clarineta aguda e um grave regular vindos do saguão. Subiu uma escada escura de concreto. Abriu a porta lá no alto e adentrou, ao lado de uma escadaria de mármore, um reino de luz, fumaça e música.
Joe já estivera em alguns saguões de hotéis de luxo na vida, mas nunca vira nada como aquilo. O clarinetista e o violoncelista estavam posicionados junto a portas de entrada de bronze tão perfeitamente polidas que a luz por elas refletida transformava em ouro a poeira suspensa no ar. Colunas coríntias se erguiam de pisos de mármore até sacadas de ferro forjado. As sancas eram de alabastro creme, e a cada dezena de metros pendia um pesado lustre com o mesmo formato de pingente dos candelabros encarapitados em pedestais de quase dois metros. Havia sofás vermelho-escuros dispostos sobre tapetes orientais. Dois pianos de cauda submersos em flores brancas de um lado a outro do saguão. Os pianistas dedilhavam de leve as teclas enquanto conversavam com os convidados e entre si.
Em frente à escadaria, a estação de rádio wbz havia instalado três radiofones sobre pedestais pretos. Uma mulher corpulenta de vestido azul-claro em pé junto a um deles confabulava com um homem de terno bege e gravata-borboleta amarela. A mulher não parava de ajeitar os coques dos cabelos enquanto tomava goles de um copo de líquido claro e enevoado.
A maioria dos homens estava de smoking ou casaca. Havia também alguns de terno, de modo que Joe não era o único do recinto a destoar dos demais, mas era o único ainda de chapéu. Pensou em tirá-lo, mas isso deixaria totalmente à mostra o rosto que saíra na manchete de todos os jornais vespertinos do dia. Ergueu os olhos para o balcão; lá em cima havia muitos chapéus, pois era onde todos os repórteres e fotógrafos se misturavam com os grã-finos.
Encolheu o queixo junto ao peito e rumou para a escada mais próxima. Demorou a avançar, pois a multidão se adensava agora que vira os radiofones e a mulher roliça de vestido azul. Mesmo com a cabeça baixa, identificou os jogadores de beisebol Chappie Geygan e Boob Fowler conversando com o também jogador Red Ruffing. Torcedor fanático do Red Sox desde que se conhecia por gente, teve de lembrar a si mesmo de que talvez não fosse uma boa ideia um homem procurado abordar três craques para conversar sobre seu aproveitamento. Espremeu-se para passar por trás deles, porém, torcendo para entreouvir algo que desmentisse os boatos de negociação dos passes de Geygan e Fowler, mas tudo o que escutou foi uma conversa sobre o mercado de ações: Geygan dizia que o único jeito de se ganhar dinheiro era comprar na margem, qualquer outra maneira era para paspalhos que quisessem continuar pobres. Foi então que a mulher corpulenta de vestido azul-claro se aproximou do microfone e pigarreou para limpar a garganta. O homem ao seu lado foi até o outro radiofone e ergueu um braço para o público.
“Senhoras e senhores, para deleite de seus ouvidos, a Rádio wbz de Boston, 1030 kHz no seu dial, passa a transmitir ao vivo do Grande Saguão do histórico Hotel Statler. Quem lhes fala é Edwin Mulver, e tenho o imenso prazer de apresentar Mademoiselle Florence Ferrel, meio-soprano da Ópera de San Francisco.”
Edwin Mulver deu um passo para trás, com o queixo erguido, enquanto Florence Ferrel dava um último tapinha nos coques do penteado e em seguida expirava para dentro do radiofone. Sem nenhum aviso, a expiração se transformou em uma nota alta como o cume de uma montanha, que reverberou pela multidão e subiu três andares até o teto. Um som tão extravagante, e ao mesmo tempo tão autêntico, que fez Joe se sentir tomado por uma terrível solidão. Aquela mulher estava trazendo ao mundo algo divino que, ao sair do corpo dela para adentrar o seu, fez Joe perceber que um dia iria morrer. Ele compreendeu esse fato de um jeito diferente do que sabia quando entrou. Ao entrar, isso era uma possibilidade remota. Agora era um fato insensível, indiferente à sua consternação. Diante de tal manifestação do outro mundo, ele compreendeu, sem margem para argumentação, que era mortal e insignificante, e que vinha tomando providências para sair do mundo desde o dia em que entrara nele.
À medida que a cantora seguiu cantando a ária, as notas foram ficando cada vez mais agudas, e Joe imaginou a voz dela como um oceano escuro, sem fim, sem fundo. Olhou em volta e viu os homens de smoking e as mulheres com seus cintilantes vestidos justos de tafetá ou seda e suas guirlandas de renda, viu o champanhe que brotava de uma fonte no meio do saguão. Reconheceu um juiz, o prefeito Curley, o governador Fuller e outro jogador do Sox chamado Baby Doll Jacobson. Junto a um dos pianos, viu Constante Flagstead, estrela de teatro da cidade, flertando com Ira Bumtroth, conhecido contador. Algumas pessoas riam, e outras faziam tanto esforço para parecer respeitáveis que dava vontade de rir. Viu homens sisudos com fartas suíças, e matronas emaciadas com saias no formato de sinos de igreja. Identificou membros das ricas famílias tradicionais de Boston, gente de sangue azul e integrantes da associação voluntária Filhas da Revolução Americana. Reparou em contrabandistas de bebidas, seus advogados, e até mesmo o tenista Rory Johannsen, que chegara às quartas de final de Wimbledon no ano anterior após derrotar o francês Henri Cochet. Viu intelectuais de óculos tentando não ser pegos olhando para frívolas moças moderninhas, cujos dotes para a conversação eram insípidos, mas cujos olhos reluziam e pernas enfeitiçavam... e todos eles em breve iriam desaparecer da face da terra. Dali a cinquenta anos, alguém iria olhar para uma foto dessa noite, e a maioria das pessoas naquele salão estaria morta e o resto estaria quase lá.
Enquanto Florence Ferrel terminava sua ária, ele ergueu os olhos para o mezanino e viu Albert White. Postada obedientemente atrás de seu cotovelo direito estava a esposa. Era uma mulher de meia-idade magra feito um varapau, sem nada do peso generoso de uma abastada matrona. Perceptíveis até mesmo de onde Joe estava, os olhos eram seu traço mais marcante. Eram saltados e frenéticos, mesmo quando ela sorriu para algo que Albert disse ao risonho prefeito Curley, que subira até lá com um copo de uísque escocês na mão.
Joe avançou os olhos alguns metros pelo balcão e viu Emma. Ela usava um vestido justo prateado e estava em pé no meio de um grupo perto da balaustrada de ferro forjado, com um copo de champanhe na mão esquerda. Sob aquela luz, sua pele tinha o mesmo branco do alabastro, e ela parecia aflita e sozinha, perdida em um pesar só seu. Seria essa a mulher que era quando achava que ele não estava olhando? Traria encravada no coração alguma perda indizível? Por alguns instantes, Joe temeu que ela fosse pular da balaustrada do balcão, mas então a angústia em sua expressão se transformou em um sorriso. E ele entendeu o que havia posto aquela tristeza em seu rosto: ela não esperava vê-lo nunca mais.
O sorriso se alargou e ela o disfarçou com a mão. Foi a mesma mão que segurava o copo de champanhe, de modo que este se inclinou e fez cair algumas gotas sobre o público do térreo. Um homem levantou a cabeça e levou a mão à nuca. Uma senhora imponente limpou a testa e em seguida piscou os olhos várias vezes.
Emma se inclinou um pouco mais para longe da balaustrada e meneou a cabeça em direção à escadaria localizada do lado do saguão em que Joe estava. Ele aquiesceu. Ela se pôs a andar para longe da balaustrada.
Ele a perdeu na multidão do andar de cima enquanto abria caminho pelo de baixo. Tinha reparado que a maioria dos jornalistas no balcão usava os chapéus inclinados para trás e nós tortos nas gravatas. Assim, empurrou o chapéu para trás e afrouxou a gravata enquanto se espremia pelo último aglomerado de pessoas até chegar à escadaria.
O agente de polícia Donald Belinski desceu correndo na sua direção, um fantasma que, não se sabe como, havia se levantado do leito do lago, raspado a carne queimada dos ossos, e agora descia rapidamente os degraus na direção de Joe — os mesmos cabelos louros, a mesma tez manchada de vermelho, os mesmos lábios ridiculamente rubros e olhos ridiculamente claros. Não, espere: aquele cara ali era mais parrudo, e os cabelos louros já tinham começado a recuar na testa e estavam mais para o ruivo do que para o louro puro. Além disso, embora Joe só tivesse visto Belinski deitado de costas, teve quase certeza de que o policial era mais alto do que aquele homem ali. E provavelmente tinha um cheiro melhor, também, pois aquele ali recendia a cebola, como Joe pôde sentir de tão perto que passou dele ao se cruzarem na escada, e os olhos do homem se estreitaram. Ele afastou da testa uma mecha de cabelos oleosos entre o louro e o ruivo, segurando o chapéu na mão livre com uma credencial do Boston Examiner presa na fita de gorgorão. Joe saiu da sua frente no último segundo, e o homem se atrapalhou com o chapéu.
“Desculpe”, disse Joe.
E o cara respondeu: “Queira me desculpar”, mas Joe pôde sentir seus olhos a observá-lo quando subiu a escada depressa, pasmo com a própria estupidez não só de ter encarado alguém nos olhos, mas também de ter encarado um jornalista.
Mais acima na escada, o cara chamou: “Com licença, com licença. O senhor deixou cair uma coisa”, mas Joe não tinha deixado cair porra nenhuma. Continuou andando, e um grupo surgiu na escadaria acima dele já levemente embriagado, uma mulher jogada por cima de outra como uma túnica solta, e então Joe passou no meio deles sem olhar para trás, sem olhar para trás, olhando apenas para a frente.
Para ela.
Emma segurava uma bolsinha que combinava com o vestido e com a pena e a faixa prateadas dos cabelos. Uma pequena veia pulsava em sua garganta. Seus ombros subiam e desciam; os olhos chispavam. Ele teve de se esforçar para não segurar aqueles ombros e tirá-la do chão até ela envolver seu corpo com as pernas e baixar o rosto em direção ao seu. Em vez disso, porém, passou por ela sem se deter e disse: “Um cara acabou de me reconhecer. Tenho que sair daqui”.
Ela foi atrás quando ele se pôs a percorrer um tapete vermelho e passou pelo salão de baile principal. A multidão ali era compacta, mas não tão densa quanto no saguão do térreo. Foi relativamente fácil avançar pela periferia da multidão.
“Tem um elevador de serviço logo depois do próximo balcão”, disse ela. “Vai dar no subsolo. Não acredito que você está aqui.”
Ele dobrou à direita no vão seguinte, com a cabeça baixa, e empurrou o chapéu para cima da testa, com força. “O que mais eu poderia ter feito?”
“Fugido.”
“Para quê?”
“Não sei. Meu Deus. É isso que as pessoas fazem.”
“Não é o que eu faço.”
A multidão ficou mais compacta quando eles margearam os fundos do balcão. Lá embaixo, o governador havia assumido o radiofone e estava decretando a data como Dia do Hotel Statler no estado de Massachusetts, e um viva ecoou da multidão já totalmente embriagada, bem na hora em que Emma passou na sua frente e o cutucou com o cotovelo para fazê-lo dobrar à esquerda.
Foi então que ele viu, depois do ponto onde o corredor encontrava outro — um nicho escuro atrás das mesas de banquete, das luzes, do mármore e do tapete vermelho.
No térreo, um naipe de metais começou a tocar, e o público do balcão passou a dançar e os flashes, a disparar, estalar e silvar. Ele se perguntou se algum daqueles fotógrafos de jornal iria voltar para a redação e reparar no cara que aparecia ao fundo de algumas de suas imagens, o cara de terno marrom e chapéu de feltro na cabeça.
“Esquerda, esquerda”, disse Emma.
Ele dobrou à esquerda entre duas mesas de banquete, e o piso de mármore deu lugar a finas lajotas pretas. Mais uns dois degraus e chegaram ao elevador. Ele apertou o botão para descer.
Quatro homens embriagados margearam a borda do balcão. Eram alguns anos mais velhos do que Joe e estavam cantando “Soldiers Field”, um hino da Universidade de Harvard.
“O’er the stands of flaming Crimson the Harvard banners fly”, entoavam eles, desafinados.
Joe tornou a apertar o botão para descer.
Um dos homens o encarou nos olhos, em seguida lançou um olhar cobiçoso para a bunda de Emma. Cutucou o companheiro enquanto os dois seguiam cantando: “Cheer on cheer like volleyed thunder echoes to the sky”.
Emma encostou a mão na lateral da sua. “Merda, merda, merda”, falou.
Ele tornou a apertar o botão.
Um garçom irrompeu com estardalhaço pelas portas duplas da cozinha à sua esquerda, segurando uma imensa bandeja suspensa em frente ao corpo. Passou a um metro de onde eles estavam, mas não olhou na sua direção.
Os universitários tinham passado, mas eles ainda podiam escutá-los: “Then fight, fight, fight! For we win tonight”.
Emma estendeu a mão na sua frente e apertou o botão para descer.
“Old Harvard forevermore!”
Joe cogitou passar pela cozinha, mas desconfiou que aquilo fosse um anexo, com no máximo um garçom estúpido para trazer os pratos da cozinha principal, dois andares abaixo. Pensando bem, o mais inteligente teria sido Emma ir encontrá-lo, não o contrário. Se ao menos tivesse pensado com clareza, mas não conseguia se lembrar da última vez em que fizera tal coisa.
Estendeu a mão para apertar o botão outra vez, mas então ouviu o elevador subindo na sua direção.
“Se tiver alguém, vire as costas para eles”, instruiu. “Vão estar com pressa.”
“Não depois que virem as minhas costas”, retrucou ela, e apesar do peso da preocupação ele sorriu.
O elevador chegou e ele aguardou, mas as portas permaneceram fechadas. Contou cinco batidas do próprio coração. Abriu a grade metálica. Puxou a porta e se deparou com o elevador vazio. Olhou por cima do ombro para Emma. Ela entrou na frente e ele a seguiu. Fechou a grade, depois a porta. Acionou a alavanca, e começaram a descer.
Ela encostou a palma da mão no seu pau, que endureceu na mesma hora enquanto ela tapava a boca dele com a sua. Joe enfiou a mão livre por baixo de seu vestido e no meio do calor entre as coxas, e ela soltou um gemido em sua boca. As lágrimas dela molharam as bochechas de Joe.
“Por que você está chorando?”
“Porque talvez eu ame você.”
“Talvez?”
“É.”
“Então ria.”
“Não consigo, não consigo”, disse ela.
“Sabe a rodoviária na St. James Avenue?”
Ela estreitou os olhos para ele. “Hã? Claro. É claro que sei.”
Ele depositou a chave do escaninho em sua mão. “Se alguma coisa acontecer.”
“O quê?”
“Entre aqui e a liberdade.”
“Não, não, não, não”, disse ela. “Não, não. Fique você com isso. Eu não quero.”
Ele recusou a sugestão com um gesto. “Ponha dentro da bolsa.”
“Joe, eu não quero isso.”
“É dinheiro.”
“Eu sei o que é e não quero.” Ela tentou lhe entregar a chave, mas ele manteve as mãos erguidas bem alto.
“Fique com ela.”
“Não”, disse Emma. “Nós vamos gastar esse dinheiro juntos. Eu estou com você agora. Estou com você, Joe. Pegue a chave.”
Ela tentou lhe entregar a chave outra vez, mas eles já tinham chegado ao subsolo.
A janela na porta do elevador estava escura, pois por algum motivo as luzes não foram acesas.
Não estavam apagadas por “algum” motivo, entendeu Joe. Só havia um motivo possível.
Estendeu a mão para a alavanca ao mesmo tempo que a grade foi aberta com violência pelo lado de fora e Brendan Loomis pôs o braço dentro do elevador e o puxou pela gravata. Ele tirou a pistola de Joe da base das costas e a fez deslizar pelo chão de cimento para dentro da escuridão. Então o socou no rosto e na lateral da cabeça mais vezes do que Joe foi capaz de contar, e tudo aconteceu tão depressa que Joe mal conseguiu erguer as mãos.
Quando o fez, esticou-as para trás na direção de Emma, pensando que de alguma forma fosse conseguir protegê-la. Brendan Loomis, porém, tinha o punho feito o martelo de um açougueiro. A cada vez que este acertava a cabeça de Joe — pá-pá-pá-pá —, ele sentia o cérebro se anestesiar e a visão embranquecer. Seus olhos escorregaram para dentro desse branco, sem conseguir focar em coisa alguma. Ele ouviu o próprio nariz se quebrar, e então — pá-pá-pá — Loomis o acertou no mesmo ponto mais três vezes.
Quando Loomis soltou sua gravata, Joe caiu de quatro no chão de cimento. Ouviu uma série de pingos regulares, como torneiras mal fechadas, abriu os olhos e viu o próprio sangue pingando no cimento, gotas do tamanho de moedas de um centavo, mas que se acumularam bem depressa até se transformar em amebas, e de amebas, em poças. Virou a cabeça para ver se por acaso, de algum jeito, Emma teria usado o tempo da surra para fechar a porta do elevador e fugir dali, mas o elevador não estava onde ele o havia deixado, ou então ele não estava onde havia deixado o elevador, pois tudo o que viu foi uma parede de cimento.
Foi então que Brendan Loomis lhe desferiu um chute na barriga forte o suficiente para erguê-lo do chão. Quando ele aterrissou, em posição fetal, não conseguiu respirar. Arquejou tentando sorver o ar, mas este não veio. Tentou ficar de joelhos, mas as pernas não o sustentaram, então ele usou os cotovelos para erguer o peito do cimento e pôs-se a arquejar feito um peixe para tentar fazer algum ar descer pela traqueia, mas constatou que o próprio peito parecia uma pedra preta, sem aberturas, sem fendas, sem nada ali a não ser a pedra e sem espaço para nenhuma outra coisa, pois não conseguia respirar nem por um caralho.
A pressão foi subindo por seu esôfago como o sifão de uma caneta-tinteiro, apertou seu coração, esmagou os pulmões, fechou a garganta, mas então, por fim, passou pelas amígdalas de uma só vez e saiu pela boca. Trouxe um assobio em seu encalço, um assobio e vários arquejos, mas tudo bem, não tinha problema, pois ele conseguia respirar de novo, finalmente conseguia respirar.
Loomis lhe deu um chute na virilha, por trás.
Joe pressionou a cabeça no chão de cimento e tossiu, e talvez tenha até vomitado, não saberia dizer, pois a dor foi algo que não poderia ter imaginado até então. Seus testículos foram parar dentro dos intestinos; labaredas lamberam as paredes do estômago; o coração pôs-se a bater tão depressa que com certeza iria parar em breve, tinha de parar; parecia que alguém havia fendido seu crânio com as mãos; seus olhos sangraram. Ele vomitou, vomitou com certeza, vomitou bile e fogo pelo chão. Pensou que tivesse acabado, mas então vomitou outra vez. Caiu de costas no chão e ergueu os olhos para Brendan Loomis.
“Você está mesmo...”, Loomis acendeu um cigarro, “uma lástima.”
Brendan se balançava de um lado para o outro junto com o espaço à sua volta. Joe permaneceu onde estava, mas tudo o mais parecia preso a um pêndulo. Brendan olhou para Joe caído no chão enquanto sacava um par de luvas pretas e flexionava os dedos dentro delas até o caimento ficar do seu agrado. Albert White apareceu ao seu lado, preso ao mesmo pêndulo, e ambos baixaram os olhos para Joe.
“Infelizmente, acho que vou ter que transformar você em um recado”, disse Albert.
Joe olhou para cima e, através do sangue nos olhos, viu Albert de casaca branca.
“Para todo mundo por aí que achar que não tem problema ignorar o que eu digo.”
Joe tentou localizar Emma, mas o balanço e os rodopios eram tão fortes que não conseguiu encontrar o elevador.
“Não vai ser um recado agradável”, disse Albert White. “Lamento muito por isso.” Albert se agachou em frente a Joe com uma expressão triste e cansada no rosto. “Minha mãe sempre dizia que nada acontece sem motivo. Não tenho certeza de que tivesse razão, mas de fato penso que as pessoas muitas vezes acabam se tornando o que deveriam ser. Eu achava que devia virar policial, mas aí a prefeitura tirou meu emprego e virei isto que sou agora. E na maioria das vezes o que eu sou não me agrada, Joe. Para falar a verdade, eu odeio essa porra, mas não posso negar que é um talento natural. O que eu sou se encaixa comigo. No seu caso, infelizmente, o seu talento é fazer cagada. Tudo o que você tinha de fazer era fugir, mas não fugiu. E tenho certeza... olhe para mim.”
Os olhos de Joe tinham se desviado para a esquerda. Ele os trouxe de volta e encarou o olhar bondoso de Albert.
“Tenho certeza de que, quando estiver morrendo, dirá a si mesmo que agiu por amor.” Ele abriu um sorriso pesaroso para Joe. “Mas não foi por isso que você fez cagada. Você fez cagada porque essa é a sua natureza. Porque bem lá no fundo você se sente culpado pelo que faz, então quer ser pego. Na área em que atuamos, porém, é preciso encarar nossa culpa ao fim de cada noite. Manuseá-la, formar com ela uma bola. E depois jogá-la no fogo. Só que você, você não faz isso, então passou a sua curta vida inteira esperando alguém vir puni-lo pelos seus pecados. Bem, esse alguém sou eu.”
Albert se levantou de onde estava agachado, e o foco de Joe se desfez por alguns instantes, transformando tudo em um borrão. Ele viu um clarão prateado, depois outro, e estreitou os olhos até o borrão ficar mais nítido e tudo entrar em foco outra vez.
E desejou que não tivesse entrado.
Albert e Brendan ainda cintilavam de leve, mas o pêndulo havia desaparecido. Emma estava em pé ao lado de Albert, com a mão em seu braço.
Joe passou alguns instantes sem entender. E então entendeu.
Ergueu os olhos para Emma, e o que iriam fazer com ele passou a não ter importância. Já não se importava em morrer, pois viver era doloroso demais.
“Eu sinto muito”, sussurrou ela. “Sinto muito.”
“Ela sente muito”, disse Albert White. “Todos nós sentimos muito.” Albert gesticulou em direção a alguém que Joe não via. “Tire ela daqui.”
Um cara parrudo de casaco de lã grosseira aberto na frente e um gorro enfiado por cima da testa segurou Emma pelo braço.
“Você falou que não o mataria”, disse Emma a Albert.
Este deu de ombros.
“Albert”, insistiu Emma. “Foi esse o acordo.”
“E eu vou honrá-lo”, disse Albert. “Não se preocupe.”
“Albert”, repetiu ela, e sua voz engasgou na garganta.
“Sim, meu bem?”, a voz de Albert estava excessivamente calma.
“Eu nunca o teria trazido até aqui se...”
Albert lhe deu um tapa na cara com uma das mãos enquanto usava a outra para alisar a camisa. Um tapa forte o suficiente para ferir os lábios dela.
Então baixou os olhos para a própria camisa. “Acha que você está segura? Acha que vou ser humilhado por uma puta? Você está crente que estou gamado por você. Talvez ontem estivesse, mas passei a noite em claro. E já substituí você. Entendeu? Vai ver só.”
“Você disse...”
Albert limpou o sangue dela em sua mão com um lenço. “Ponha ela na porra do carro, Donnie. Agora, Donnie.”
O cara parrudo envolveu Emma em um abraço de urso e começou a andar de costas. “Joe! Por favor, não o machuque mais. Joe, eu sinto muito. Sinto muito.” Ela gritava, chutava e arranhava a cabeça de Donnie. “Joe, eu te amo! Eu te amo!”
A grade se fechou com um baque, e o elevador subiu para longe do subsolo.
Albert se agachou ao lado de Joe e pôs um cigarro entre seus lábios. Um fósforo se acendeu, o fumo estalou, e Albert disse: “Trague. Vai recuperar os sentidos mais depressa”.
Joe tragou. Durante um minuto, ficou sentado no chão fumando, com Albert agachado ao seu lado fumando o próprio cigarro e Brendan Loomis em pé, observando.
“O que vai fazer com ela?”, perguntou Joe quando teve certeza de que conseguia falar.
“Com ela? Ela acaba de apunhalar você pelas costas.”
“Por um bom motivo, aposto.” Olhou para Albert. “Foi por um bom motivo, não foi?”
Albert deu uma risadinha. “Você é mesmo um jeca, não é?”
Joe arqueou a sobrancelha machucada, e o sangue escorreu para dentro de seus olhos. Ele o limpou. “O que vai fazer com ela?”
“Deveria estar mais preocupado com o que vou fazer com você.”
“E estou”, admitiu Joe, “mas quero saber o que vai fazer com ela.”
“Ainda não sei.” Albert deu de ombros, tirou um pedacinho de fumo da língua e dispensou com um piparote. “Mas você, Joe, você vai ser o recado.” Virou-se para Brendan. “Levante ele do chão.”
“Que recado?”, indagou Joe enquanto Brendan Loomis passava os braços debaixo dele por trás e o erguia até ele ficar de pé.
“O que aconteceu com Joe Coughlin é o que vai acontecer com quem desagradar a Albert White e sua gangue.”
Joe não disse nada. Nada lhe ocorreu. Tinha vinte anos de idade. Era tudo o que conseguiria desse mundo — vinte anos. Não chorava desde os catorze, mas foi preciso um esforço descomunal para encarar os olhos de Albert e não perder o controle e implorar pela própria vida.
A expressão de Albert se fez mais suave. “Não posso deixar você vivo, Joe. Se conseguisse ver algum jeito de fazer isso, eu tentaria. E não tem nada a ver com a garota, se isso for algum consolo. Posso arrumar putas em qualquer lugar. Tenho uma novinha e bonita esperando por mim assim que eu terminar de cuidar de você.” Ele passou alguns instantes estudando as próprias mãos. “Mas você atacou uma cidade pequena e roubou sessenta mil dólares sem o meu consentimento, e deixou três policiais mortos. Isso faz uma chuva de merda desabar em cima de todos nós. Porque agora todos os policiais da Nova Inglaterra acham que os gângsteres de Boston são uns cachorros loucos, a serem abatidos como cachorros loucos. E eu preciso fazer todo mundo entender que isso simplesmente não é verdade.” Ele falou com Loomis. “Onde está Bones?”
Bones era Julian Bones, outro capanga de Albert.
“No beco, com o motor ligado.”
“Vamos.”
Albert foi na frente até o elevador, abriu a grade, e Brendan Loomis arrastou Joe para dentro.
“Vire-o.”
Joe foi girado sem sair do lugar, e o cigarro caiu de sua boca quando Loomis o segurou pela nuca e empurrou seu rosto de encontro à parede. Puxaram suas mãos até as costas. Uma corda áspera envolveu seus pulsos, e Loomis a apertou a cada volta antes de amarrar as pontas. Joe, de certa forma um especialista no assunto, sabia distinguir um bom nó quando o sentia. Mesmo que eles o deixassem sozinho ali naquele elevador e só voltassem em abril, ele não teria conseguido se soltar.
Loomis tornou a virá-lo antes de ir acionar a alavanca, e Albert sacou outro cigarro de uma cigarreira de estanho, colocou-o entre os lábios de Joe e acendeu. À luz do fósforo, Joe pôde ver que Albert não estava obtendo prazer nenhum daquilo tudo e que, quando ele estivesse afundando em direção ao leito do rio Mystic com uma corda de couro em volta do pescoço e sacos cheios de pedra amarrados nos tornozelos, Albert iria lamentar o preço de fazer negócios em um mundo sujo.
Pelo menos por uma noite.
No térreo, eles saíram do elevador e desceram um corredor de serviço vazio, aonde o barulho da festa chegava através das paredes — um duelo de pianos, o naipe de sopros tocando a plenos pulmões, muitas e alegres risadas.
Chegaram à porta no final do corredor. A palavra entregas fora escrita no centro com tinta amarela fresca.
“Vou checar se o caminho está livre.” Loomis abriu a porta para uma noite de março que agora havia esfriado bastante. Uma leve garoa caía, fazendo as escadas de incêndio de ferro exalarem um cheiro de papel-alumínio. Joe sentiu também o cheiro do prédio, do revestimento novo da fachada, como se a poeira de calcário levantada pelas furadeiras ainda pairasse no ar.
Albert virou Joe de frente para ele e ajeitou sua gravata. Lambeu as palmas das duas mãos e alisou os cabelos de Joe. Parecia perdido. “Eu nunca quis crescer e me tornar um homem que mata pessoas para manter a margem de lucro, mas é isso que sou. Nunca consigo ter uma noite de sono decente... porra, Joe, umazinha sequer. Acordo com medo todos os dias, e é do mesmo jeito que deito a cabeça no travesseiro à noite.” Ele ajeitou o colarinho de Joe. “E você?”
“Hã?”
“Já quis ser alguma outra coisa?”
“Não.”
Albert catou alguma coisa do ombro de Joe e jogou longe com o dedo. “Falei para ela que, se ela nos entregasse você, não iria matá-lo. Ninguém mais acreditava que você teria a burrice de aparecer aqui hoje, mas eu quis me garantir. Então ela aceitou me levar até você para salvá-lo. Ou pelo menos foi o que disse a si mesma. Mas você e eu sabemos que eu preciso matá-lo, não é, Joe?” Ele o fitou com olhos tomados de pesar, luzidios de umidade. “Não é?”
Joe aquiesceu.
Albert também aquiesceu. Inclinando-se para a frente, sussurrou no ouvido de Joe: “E depois vou matá-la também”.
“O quê?”
“Porque eu também a amava.” Albert levantou e abaixou as sobrancelhas. “E porque sabe qual era o único jeito de você conseguir a informação para assaltar minha mesa de pôquer naquela manhã específica? Se ela tivesse lhe dado a dica.”
“Espere aí”, disse Joe. “Olhe. Ela não me deu dica nenhuma.”
“E o que mais você iria dizer?” Albert ajeitou seu colarinho, alisou sua camisa. “Pense da seguinte forma... se o amor dos dois pombinhos for de verdade? Então vão se encontrar hoje à noite no céu.”
Ele enterrou um punho na barriga de Joe, fazendo-o afundar até o plexo solar. Joe dobrou o corpo e tornou a ficar sem ar. Deu um tranco na corda que lhe prendia os pulsos e tentou acertar Albert com uma cabeçada, mas este só fez afastar seu rosto com um tapa e abrir a porta que dava para o beco.
Segurando Joe pelos cabelos, endireitou-lhe o corpo, de modo que Joe pôde ver o carro à sua espera, com a porta de trás aberta e Julian Bones postado ao lado. Loomis atravessou o beco, segurou Joe pelo cotovelo, e os dois o arrastaram pela porta. Joe sentiu o cheiro do piso do banco de trás. Um cheiro de trapos embebidos em óleo e de terra.
Bem na hora em que estavam prestes a colocá-lo dentro do carro, deixaram-no cair. Ele desabou de joelhos nas pedras do calçamento e ouviu Albert gritar: “Vai! Vai! Vai!” Ouviu também seus passos nas pedras do calçamento. Talvez eles já tivessem lhe dado um tiro na nuca, porque o céu desceu sobre ele na forma de barras de luz.
Seu rosto se saturou de branco, os prédios do beco explodiram em azul e vermelho, pneus cantaram, alguém gritou alguma coisa por um megafone e outro alguém disparou uma arma, depois outra arma.
Um homem atravessou a luz branca em direção a Joe, um homem esbelto e seguro de si, um homem que usava o poder como se fosse um sinal de nascença.
Seu pai.
Outros homens surgiram do branco atrás dele, e Joe logo se viu rodeado por uma dezena de agentes do Departamento de Polícia de Washington.
Seu pai inclinou a cabeça de lado. “Quer dizer então, Joseph, que você agora mata policiais.”
“Eu não matei ninguém”, disse Joe.
Seu pai ignorou a resposta. “Parece que os seus cúmplices estavam prestes a levar você para um passeio da morte. Concluíram que você era um risco grande demais, foi isso?”
Vários dos policiais haviam sacado os cassetetes.
“Emma está na traseira de um carro. Eles vão matá-la.”
“Eles quem?”
“Albert White, Brendan Loomis, Julian Bones e um cara chamado Donnie.”
Nas ruas próximas ao beco, várias mulheres gritaram. A buzina de um carro soou, seguida pelo baque sólido de uma batida. Mais gritos. No beco, a garoa se transformou em toró.
O pai de Joe olhou para seus homens, depois de novo para o filho. “Um pessoal de categoria esse com quem você convive, filho. Mais alguma história da carochinha para me contar?”
“Não é história da carochinha.” Joe cuspiu sangue pela boca. “Pai, eles vão matá-la.”
“Bom, já nós não vamos matar você, Joe. Na verdade, eu não vou nem tocar em você. Mas alguns dos meus colegas gostariam de dar uma palavrinha.”
Thomas Coughlin se inclinou para a frente, mãos nos joelhos, e encarou o filho.
Em algum lugar por trás daquele olhar de ferro vivia um homem que havia passado três dias dormindo no chão do quarto de hospital de Joe quando este tivera uma febre em 1911, que havia lido para ele cada um dos oito jornais da cidade, de cabo a rabo, que lhe havia dito que o amava, que lhe havia dito que, se Deus quisesse o seu filho, teria de passar por cima dele, Thomas Xavier Coughlin, e Deus com certeza devia saber que dura tarefa isso poderia se tornar.
“Pai, escute. Ela está...”
Seu pai cuspiu na sua cara.
“Ele é todo seu”, falou para seus homens, e afastou-se.
“Encontre o carro!”, gritou Joe. “Encontre Donnie! Ela está em um carro com Donnie!”
O primeiro golpe — um punho — acertou a mandíbula de Joe. O segundo, que ele teve quase certeza foi desferido com um cassetete, o acertou na têmpora. Depois disso, toda a luz desapareceu da noite.
6
E TODOS OS PECADORES SÃO SANTOS
O motorista da ambulância deu a Thomas o primeiro indício do pesadelo de publicidade prestes a se abater sobre o Departamento de Polícia de Boston.
Quando estavam prendendo Joe na maca de madeira para suspendê-lo até a traseira da ambulância, o motorista perguntou: “Vocês jogaram esse menino do telhado?”.
A chuva caía fazendo um alarde tão grande que todos precisavam gritar.
Quem respondeu foi o ajudante e motorista de Thomas, sargento Michael Pooley: “As lesões dele foram sofridas antes da nossa chegada”.
“Ah, é?” O motorista da ambulância olhou de um para o outro enquanto a água se derramava pela aba preta de seu quepe branco. “Conta outra.”
Thomas podia sentir a temperatura aumentando no beco, mesmo debaixo de chuva, de modo que apontou para o filho deitado na maca. “Este homem participou do assassinato daqueles três policiais em New Hampshire.”
“Está se sentindo melhor agora, babaca?”, indagou o sargento Pooley.
Com os olhos pregados no relógio de pulso, o motorista da ambulância verificava a pulsação de Joe. “Eu leio o jornal. Na maioria dos dias, é quase só o que faço... fico sentado na ambulância lendo a porra do jornal. Esse menino era quem estava dirigindo. E quando eles o estavam perseguindo, alvejaram outro carro de polícia e despacharam os agentes para o inferno.” Ele pousou o pulso de Joe sobre o peito. “Mas não foi ele quem fez isso.”
Thomas olhou para o rosto de Joe — lábios pretos partidos, nariz achatado, olhos fechados de tão inchados, um osso malar afundado, sangue negro endurecido nos olhos, orelhas, nariz e cantos da boca. O sangue do sangue de Thomas. Sua cria.
“Mas, se ele não tivesse assaltado o banco, eles não estariam mortos”, falou.
“Se os outros policiais não tivessem usado a porra de uma metralhadora, eles não estariam mortos.” O motorista fechou as portas da ambulância, olhou para Pooley e Thomas, e Thomas ficou surpreso pela repulsa que detectou em seus olhos. “Vocês provavelmente acabaram de matar esse menino de porrada. Mas o criminoso é ele ?”
Dois carros de polícia encostaram atrás da ambulância, e os três sumiram noite adentro. Thomas teve de se lembrar diversas vezes de pensar no rapaz espancado dentro da ambulância como “Joe”. Pensar nele como “filho” era avassalador demais. Sua carne e sangue, e muito daquele sangue e parte daquela carne jaziam agora no chão daquele beco.
“Lançou o aviso de busca em nome de Albert White?”, perguntou ele a Pooley.
O sargento aquiesceu. “E de Loomis, Bones e Donnie não sei das quantas, mas imaginamos que seja Donnie Gishler, um dos homens de White.”
“Dê prioridade a Gishler. Avise a todas as unidades que ele talvez esteja com uma mulher no carro. Onde está Forman?”
Pooley fez um gesto com o queixo. “Lá dentro do beco.”
Thomas começou a andar e Pooley foi atrás. Quando chegaram ao grupo de policiais junto à porta de serviço do hotel, Thomas evitou olhar para a poça de sangue de Joe perto de seu pé direito, poça esta volumosa o suficiente para receber a chuva e mesmo assim conservar um tom vivo de vermelho. Em vez disso, concentrou-se no chefe de seus investigadores, Steve Forman.
“Alguma informação sobre os carros?”
Forman abriu seu bloquinho de taquigrafia.
“Segundo o lavador de pratos, um Cole Roadster ficou parado no beco entre oito e quinze e oito e meia. Depois disso, o lavador de pratos disse que o carro sumiu e foi substituído por um Dodge.”
O Dodge era o carro para dentro do qual estavam tentando arrastar Joe quando Thomas e a cavalaria chegaram.
“Quero que seja lançado um aviso de busca prioritário pelo Roadster”, disse Thomas. “O motorista se chama Donald Gishler. Talvez haja uma mulher no banco de trás, Emma Gould. Ela é dos Gould de Charlestown, Steve. Sabe de quem estou falando?”
“Ah, sei sim”, respondeu Forman.
“Não a filha de Bobo. Ela é filha de Ollie Gould.”
“Certo.”
“Mandem alguém verificar se ela não está sã e salva na cama em Union Street. Sargento Pooley?”
“Sim, comandante?”
“Já viu esse tal de Donnie Gishler ao vivo?”
Pooley fez que sim com a cabeça. “Deve ter um metro e sessenta e sete de altura e pesar uns oitenta e seis quilos. Costuma usar gorros de lã preta. Na última vez em que o vi, estava usando um bigode com as pontas curvas. A décima sexta deve ter uma foto dele.”
“Mande alguém buscar. E passe essa descrição para todas as unidades.”
Ele olhou para a poça de sangue do filho. Um dente boiava nela.
Thomas e Aiden, seu filho mais velho, não se falavam havia muitos anos, embora ele recebesse uma carta de vez em quando cheia de fatos neutros, mas sem informação pessoal alguma. Não sabia onde ele morava, ou sequer se estava vivo ou morto. O filho do meio, Connor, ficara cego durante as revoltas ligadas à greve da polícia em 1919. Fisicamente, havia se adaptado à enfermidade com uma presteza louvável, mas mentalmente esta havia exacerbado sua tendência à autocomiseração, e ele logo se refugiara no álcool. Depois de não conseguir se matar de tanto beber, havia encontrado a religião. Pouco depois de abandonar esse flerte (ao que parece Deus exigia mais de seus adoradores do que um caso de amor com o martírio), Connor fora morar no Educandário para Cegos e Aleijados Silas Abbotsford. Recebera um emprego de zelador — isso para um homem que fora o promotor público assistente mais jovem da história do estado, nomeado promotor principal em um caso de pena capital — e lá passava os seus dias, esfregando pisos que não conseguia ver. De tempos em tempos, ofereciam-lhe um cargo de professor no educandário, mas ele havia recusado todas as propostas sob o pretexto de que era tímido. Não havia nada de tímido em nenhum dos três filhos de Thomas. Connor simplesmente havia decidido se isolar de todas as pessoas que o amavam. O que, nesse caso, significava Thomas.
E agora ali estava o seu caçula, dedicado a uma vida no crime, uma vida de putas, contrabandistas de bebidas e capangas armados. Uma vida que sempre parecia prometer glamour e riqueza, mas que raramente proporcionava alguma das duas coisas. E agora, por causa de seus companheiros de atividade e dos homens do próprio Thomas, ele talvez não sobrevivesse àquela noite.
Parado debaixo da chuva, Thomas não conseguia sentir cheiro nenhum exceto o horrendo fedor de si mesmo.
“Encontrem a garota”, falou para Pooley e Forman.
Um agente de patrulha de Salem localizou Donnie Gishler e Emma Gould. Quando a perseguição terminou, nove viaturas já estavam envolvidas, todas de pequenas cidades do litoral norte de Massachusetts — Beverly, Peabody, Marblehead. Muitos policiais viram uma mulher no banco de trás do carro; muitos deles não viram; um alegou ter visto duas ou três moças no carro, mas posteriormente ficou confirmado que havia bebido. Depois de Donnie Gishler tirar duas viaturas da estrada em alta velocidade, danificando ambas, e depois de os agentes serem por ele alvejados (ainda que a mira tenha sido sofrível), eles revidaram.
O Cole Roadster de Donnie Gishler saiu da estrada às nove e cinquenta da noite, sob forte chuva. Estavam descendo a toda a Ocean Avenue de Marblehead, margeando a enseada de Lady’s Cove, quando um dos policiais por sorte acertou um tiro no pneu de Gishler, ou então — mais provável, a sessenta e cinco quilômetros por hora e debaixo de chuva — o pneu simplesmente estourou de tanto atrito. Nesse trecho da Ocean Avenue, havia bem pouca avenida e muito oceano. O Cole saiu da estrada sobre três rodas, caiu pelo acostamento e tombou; os pneus perderam o contato com o chão. O carro então mergulhou em dois metros e meio de água com duas das janelas espatifadas e afundou antes mesmo de a maioria dos policiais conseguir descer de seus veículos.
Um agente de patrulha de Beverly chamado Lew Burliegh se despiu até ficar só de roupa de baixo e entrou na água, mas estava escuro, mesmo depois de alguém ter a ideia de apontar os faróis das viaturas para lá. Lew Burliegh entrou na água gélida quatro vezes, o suficiente para ficar com hipotermia e passar um dia no hospital, mas não encontrou o carro.
Os mergulhadores o encontraram na tarde seguinte, pouco depois das duas, com Gishler ainda sentado no banco do motorista. Um pedaço do volante havia se soltado e entrado em seu corpo pela axila. A alavanca de marchas tinha perfurado a virilha. Mas não foi isso que o matou. Uma das mais de cinquenta balas disparadas pela polícia nessa noite o havia acertado atrás da cabeça. Mesmo que o pneu não houvesse estourado, o carro teria caído na água.
Encontraram uma faixa prateada e uma pena da mesma cor presas ao teto do carro, mas nenhum outro sinal de Emma Gould.
O tiroteio entre a polícia e os três gângsteres atrás do Hotel Statler entrou para a bruma da história da cidade uns dez minutos depois de ocorrido. E isso apesar de ninguém ter sido atingido e de, no meio da confusão, na realidade poucas balas terem sido disparadas. Os criminosos tiveram a sorte de fugir do beco no exato momento em que o público do teatro estava deixando os restaurantes e se encaminhando para o Colonial ou o Plymouth. Uma reencenação de Pigmalião em cartaz no Colonial tivera a lotação esgotada por três semanas, e o Plymouth havia provocado a ira da organização de censura Watch and Ward com uma montagem de O playboy do mundo ocidental. A organização havia despachado dezenas de manifestantes, mulheres desenxabidas com lábios contraídos de quem chupou limão e cordas vocais incansáveis, o que só fizera chamar atenção para a peça. A presença exaltada e estridente dessas mulheres não foi apenas um alento para as bilheterias; foi também um presente dos deuses para os gângsteres. O trio saiu do beco, com as rodas do carro a girar loucamente, e a polícia partiu pela rua em seu encalço mas, quando as mulheres da censura viram as armas, puseram-se a gritar, guinchar e apontar. Muitos casais a caminho do teatro foram se abrigar de forma estabanada e violenta em vãos de portas, e um chofer tentando se desviar bateu o Pierce-Arrow do patrão em um poste ao mesmo tempo que uma garoa fina se transformava subitamente em pé-d’água. Quando os agentes de polícia conseguiram se recuperar do susto, os gângsteres já tinham roubado um carro em Piedmont Street e se embrenhado na cidade agora fustigada por uma chuva inclemente.
O “Tiroteio do Statler” rendeu boas matérias. A narrativa começava de forma simples — heroicos policiais enfrentavam de arma em punho malfeitores responsáveis pelo assassinato de seus colegas, e conseguiam dominar e prender um deles. Logo, porém, ficava mais complicada. Oscar Fayette, motorista de ambulância, afirmava que o malfeitor preso tinha sido espancado pela polícia com tamanha violência que talvez não passasse daquela noite. Pouco depois da meia-noite, boatos não confirmados se espalharam pelas redações de Washington Street, segundo os quais uma mulher fora vista trancada em um carro que havia mergulhado nas águas de Lady’s Cove em Marblehead na velocidade máxima e desaparecido lá no fundo em menos de um minuto.
Então se espalhou a notícia de que um dos gângsteres envolvidos no Tiroteio do Statler era ninguém menos que o negociante Albert White. Até então, Albert White ocupava uma posição invejável na sociedade bostoniana — a de um possível contrabandista de bebidas, provável traficante de rum, talvez fora da lei. Todos partiam do princípio de que ele tinha participação nas atividades ilegais, mas a maioria conseguia acreditar que fosse capaz de se manter ao largo do caos que agora imperava nas ruas de toda grande cidade. Albert White era considerado um contrabandista de bebidas “do bem”. Afável provedor de um vício inofensivo, sempre muito distinto com seus ternos claros, capaz de deliciar uma plateia com histórias sobre seu heroísmo na guerra e seus dias de policial. Depois do Tiroteio do Statler, porém (apelido que E. M. Statler tentou sem sucesso fazer os jornais reconsiderarem), esse sentimento se extinguiu. A polícia emitiu um mandado de prisão para Albert. Quer acabasse conseguindo ou não escapar da lei, seus dias de convivência com pessoas respeitáveis pertenciam ao passado. O consenso nas saletas e salões de Beacon Hill era que as emoções proporcionadas pelas experiências alheias e transgressoras tinham seus limites.
Houve então a sina que coube ao subcomandante de polícia Thomas Coughlin, outrora considerado candidato certo ao cargo de secretário de Segurança e possivelmente ao Legislativo do estado. Quando as edições do dia seguinte revelaram que o malfeitor preso e espancado na cena do crime era filho do próprio Coughlin, a maioria dos leitores se absteve de julgá-lo em questões ligadas à paternidade, uma vez que a maioria conhecia as vicissitudes de se tentar criar filhos virtuosos na Gomorra do mundo atual. Mas então o colunista Billy Kelleher, do Examiner, escreveu sobre seu encontro com Joseph Coughlin na escadaria do Statler. Fora Kelleher quem chamara a polícia para relatar o que vira, e fora ele quem chegara ao beco a tempo de ver Thomas Coughlin entregar o filho às feras sob seu comando. Isso o público rejeitou — não conseguir criar o filho direito era uma coisa. Mandar espancá-lo até ele entrar em coma era outra bem diferente.
Quando Thomas foi convocado à sala do secretário de Segurança, em Pemberton Square, já sabia que jamais viria a ocupá-la.
Em pé atrás de sua mesa, o secretário de Segurança Herbert Wilson acenou para Thomas se sentar. Ele administrava a corporação desde 1922, depois de o secretário anterior, Edwin Upton Curtis, que causara mais danos à polícia do que o cáiser à Bélgica, ter o obséquio de sucumbir a um ataque cardíaco. “Sente-se, Tom.”
Thomas Coughlin detestava que o chamassem de Tom; detestava o caráter diminutivo do apelido, sua familiaridade insensível.
Sentou-se.
“Como está seu filho?”, perguntou-lhe o comandante Wilson.
“Em coma.”
Wilson aquiesceu e expirou lentamente pelas narinas. “E cada dia que ele passa assim, Tom, mais parece um santo.” O secretário olhou para ele por cima da mesa. “Você está um caco. Tem dormido direito?”
Thomas fez que não com a cabeça. “Não desde...” Havia passado as duas noites anteriores junto ao leito de hospital do filho, enumerando os próprios pecados e rezando a um Deus no qual praticamente já não acreditava. Segundo lhe dissera o médico, mesmo que Joe saísse do coma, era possível que ficasse com sequelas cerebrais. Enfurecido — tomado por aquela fúria incandescente que com razão metia medo em todo mundo, desde o merda do seu pai aos próprios filhos, passando pela mulher —, Thomas havia ordenado a outros homens que espancassem seu filho. Agora, pensava na própria vergonha como uma lâmina deixada sobre carvões em brasa até o aço enegrecer e espirais de fumaça rastejarem pelas bordas feito cobras. A ponta lhe perfurava a barriga abaixo da caixa torácica e penetrava as entranhas, cortando, cortando, até ele não conseguir mais ver nem respirar.
“Alguma outra informação sobre os outros dois, os Bartolo?”, indagou o secretário.
“Pensei que o senhor já soubesse.”
Wilson fez que não com a cabeça. “Estive em reunião de orçamento a manhã inteira.”
“Acabou de chegar no teletipo. Pegaram Paolo Bartolo.”
“Pegaram?”
“A polícia estadual de Vermont.”
“Vivo?”
Thomas fez que não com a cabeça.
Por algum motivo que eles talvez nunca viessem a entender, Paolo Bartolo estava dirigindo um carro lotado de presuntos em lata; o banco de trás estava repleto, e latas se empilhavam pelo piso do banco do carona. Quando ele furou um sinal vermelho em South Main Street na cidade de St. Alban’s, a uns vinte e quatro quilômetros da fronteira canadense, um agente de patrulha do estado tentou pará-lo. Paolo fugiu. O agente foi atrás, outros policiais do estado entraram na perseguição e acabaram fazendo o carro sair da estrada perto de uma fazenda de gado leiteiro em Enosburg Falls.
Ainda era preciso estabelecer se Paolo havia puxado uma arma ao sair do carro naquela aprazível tarde de primavera. Era possível que tivesse levado a mão ao cós. Também era possível que simplesmente não tivesse levantado as mãos depressa o suficiente. Levando em conta que Paolo ou seu irmão Dion haviam executado o agente de patrulha Jacob Zobe no acostamento de uma estrada bem parecida com aquela, os patrulheiros não se arriscaram. Cada um dos agentes disparou o revólver de serviço pelo menos duas vezes.
“Quantos policiais responderam ao chamado?”, indagou Wilson.
“Sete, secretário, acho eu.”
“E quantas balas atingiram o criminoso?”
“Ouvi dizer onze, mas só uma autópsia dentro dos conformes dirá a verdade.”
“E Dion Bartolo?”
“Imagino que esteja escondido em Montreal. Ou em algum lugar por perto. Dion sempre foi o mais inteligente dos dois. Quem teria a maior probabilidade de pôr a cabeça a prêmio é Paolo.”
O secretário pegou uma folha de papel de uma pequena pilha em cima da mesa e a pôs em cima de outra pequena pilha. Olhou pela janela, parecendo fascinado pela torre da Alfândega a alguns quarteirões dali. “Tom, o departamento não pode permitir que você saia desta sala com a mesma patente que entrou. Entende isso?”
“Entendo, secretário.” Thomas correu os olhos pela sala que passara os dez anos anteriores cobiçando e não experimentou nenhuma sensação de perda.
“E se eu o rebaixasse a capitão, teria que ter uma divisão para pôr sob o seu comando.”
“Coisa que o senhor não tem.”
“Coisa que eu não tenho.” O secretário se inclinou para a frente, com as mãos unidas. “A partir de agora você pode rezar exclusivamente pelo seu filho, Thomas, porque daqui a sua carreira não passa.”
“Ela não morreu”, disse Joe.
Fazia quatro horas que ele saíra do coma. Thomas havia chegado ao Hospital Geral de Massachusetts dez minutos depois da ligação do médico. Levara consigo o advogado Jack D’Jarvis, um homem baixinho, de idade avançada, sempre vestido com ternos de lã nos tons mais fáceis possíveis de esquecer — marrom cor de casca de árvore, cinza cor de areia úmida, pretos que pareciam ter sido deixados no sol por tempo demais. As gravatas em geral combinavam com os ternos; os colarinhos das camisas eram sempre amarelados e, nas raras ocasiões em que ele usava chapéu, este parecia demasiado grande para sua cabeça e ficava apoiado nas pontas das orelhas. Jack D’Jarvis parecia pronto para se aposentar e já fazia quase três décadas que exibia essa aparência, mas só as pessoas de fora tinham a burrice de acreditar nisso. Ele era o melhor advogado de defesa criminal da cidade, e pouca gente conseguia citar um segundo que chegasse perto. Ao longo dos anos, Jack D’Jarvis havia desmantelado pelo menos duas dezenas de casos sólidos que Thomas apresentara à promotoria pública. As pessoas diziam brincando que, quando Jack D’Jarvis morresse, passaria seu tempo no céu tentando tirar todos os seus ex-clientes do inferno.
Os médicos passaram duas horas examinando Joe enquanto Thomas e D’Jarvis descansavam do trajeto no corredor junto com o jovem agente de polícia que vigiava a porta do quarto.
“Não vou conseguir livrar a cara dele”, disse D’Jarvis.
“Eu sei.”
“Pode ficar descansado: a acusação de assassinato em segundo grau é uma farsa e o promotor do estado sabe disso. Mas o seu filho vai ter de cumprir pena.”
“De quanto?”
D’Jarvis deu de ombros. “Uns dez anos, eu chutaria.”
“Em Charlestown?” Thomas balançou a cabeça. “Não vai sobrar nada dele para sair por aquela porta.”
“Thomas, três policiais morreram.”
“Mas não foi ele quem matou.”
“E é por isso que ele não vai para a cadeira elétrica. Mas imagine que fosse qualquer outra pessoa que não o seu filho... você mesmo iria querer que ele pegasse vinte anos.”
“Mas ele é meu filho”, disse Thomas.
Os médicos saíram do quarto.
Um deles parou para falar com Thomas. “Não sei de que material o crânio dele é feito, mas estamos achando que não é osso.”
“Como assim, doutor?”
“Ele está bem. Não há sangramento craniano, nem perda de memória ou deficiências de fala. O nariz e metade das costelas estão quebrados, e ele vai levar algum tempo antes de urinar sem ver sangue na latrina, mas não há nenhuma sequela cerebral que eu possa constatar.”
Thomas e Jack D’Jarvis entraram no quarto e foram se sentar ao lado da cama de Joe, que os observou pelos olhos negros e inchados.
“Eu errei”, disse Thomas. “Errei feio. E com certeza não há desculpa para o que fiz.”
Joe falou por entre lábios pretos e cobertos de pontos. “Não deveria ter deixado eles me espancarem?”
Thomas aquiesceu. “Não deveria.”
“Por acaso está ficando banana comigo, coroa?”
Thomas fez que não com a cabeça. “Eu mesmo deveria ter espancado.”
A leve risada de Joe saiu pelas narinas. “Com todo o respeito, senhor, fico feliz por terem sido os seus homens. Se tivesse sido o senhor, eu poderia estar morto.”
Thomas sorriu. “Quer dizer que você não me odeia?”
“É a primeira vez que me lembro de gostar do senhor em dez anos.” Joe tentou se erguer do travesseiro, mas não conseguiu. “Onde está Emma?”
Jack D’Jarvis abriu a boca, mas Thomas o deteve com um aceno. Encarou o filho direto nos olhos e lhe contou o que havia acontecido em Marblehead.
Joe passou alguns instantes absorvendo, ruminando a informação. Então disse, com um tom de leve desespero: “Ela não morreu”.
“Morreu sim, filho. Mesmo que tivéssemos agido imediatamente naquela noite, Donnie Gishler não estava com disposição para ser capturado vivo. Ela morreu assim que entrou naquele carro.”
“Não há corpo”, disse Joe. “Então ela não morreu.”
“Joseph, eles nunca chegaram a encontrar metade dos corpos do Titanic, mas mesmo assim aqueles pobres coitados já não estão mais entre nós.”
“Não consigo acreditar nisso.”
“Não consegue? Ou não vai?”
“É a mesma coisa.”
“Muito pelo contrário.” Thomas balançou a cabeça. “Nós conseguimos reconstituir um pouco do que aconteceu naquela noite. Ela era amante de Albert White. Ela traiu você.”
“É, traiu”, disse Joe.
“E então?”
Apesar dos lábios costurados, Joe sorriu. “E eu estou cagando. Sou louco por ela.”
“Loucura não é amor”, falou seu pai.
“Então é o quê?”
“Loucura.”
“Com todo o respeito, pai, eu testemunhei seu casamento por dezoito anos, e aquilo não era amor.”
“Não, não era”, concordou seu pai. “Portanto, eu sei do que estou falando.” Ele deu um suspiro. “De toda forma, filho, ela se foi. Está tão morta quanto a sua mãe, que Deus a tenha.”
“E Albert?”, indagou Joe.
Thomas se sentou na beira da cama. “Foragido.”
“Mas dizem os boatos que está negociando um retorno”, disse Jack D’Jarvis.
“Quem é o senhor?”, perguntou-lhe Joe.
O advogado estendeu a mão. “John D’Jarvis, sr. Coughlin. A maioria das pessoas me chama de Jack.”
Os olhos inchados de Joe ficaram mais arregalados do que nunca desde a chegada de Thomas e Jack ao quarto.
“Caramba”, disse ele. “Já ouvi falar do senhor.”
“Eu também já ouvi falar do senhor”, retrucou D’Jarvis. “Infelizmente, o estado inteiro também ouviu. Por outro lado, uma das piores decisões que o seu pai já tomou talvez acabe se revelando a melhor coisa que poderia ter lhe acontecido.”
“Como assim?”, indagou Thomas.
“Por ter quase o matado de pancada, o senhor transformou seu filho em vítima. O promotor do estado não vai querer processá-lo. Ele vai processá-lo, mas não vai querer.”
“O atual promotor do estado é Bondurant, certo?”, perguntou Joe.
D’Jarvis aquiesceu. “O senhor o conhece?”
“De ouvir falar”, disse Joe, e o medo transpareceu em seu rosto machucado.
“Thomas?”, perguntou D’Jarvis, observando-o com cuidado. “Você conhece Bondurant?”
“Conheço, sim”, respondeu Thomas.
Calvin Bondurant havia desposado uma Lenox de Beacon Hill e gerado três graciosas filhas, uma das quais se casara recentemente com um Lodge, para grande interesse das colunas sociais. Ferrenho defensor da Lei Seca, Bondurant era um destemido cruzado no combate a qualquer forma de vício, que afirmava ser um produto das classes inferiores e das raças inferiores que vinham aportando naquela grande nação ao longo dos últimos setenta anos. Os últimos setenta anos de imigração haviam se limitado basicamente a duas raças — irlandeses e italianos —, de modo que o recado de Bondurant não primava pela sutileza. Dali a alguns anos, porém, quando ele se lançasse governador, os doadores de campanha de Beacon Hill e Back Bay saberiam que era o homem certo.
O secretário de Bondurant conduziu Thomas para dentro da sala do promotor em Kirby e fechou as portas atrás deles. Bondurant se virou de onde estava em pé junto à janela e encarou Thomas com um olhar sem emoção.
“Estava esperando você.”
Dez anos antes, Thomas havia detido Calvin Bondurant durante a batida a uma casa de cômodos. Bondurant estava se divertindo com várias garrafas de champanhe e um rapaz nu de ascendência mexicana. Além de uma próspera carreira na prostituição, o mexicano se revelou um ex-integrante da División del Norte de Pancho Villa, procurado em seu país natal sob acusações de alta traição. Thomas havia deportado o revolucionário de volta a Chihuahua e providenciara para que o nome de Bondurant fosse riscado dos autos.
“Bem, aqui estou.”
“Conseguiu transformar seu filho de criminoso em vítima. Um truque espantoso. Será que é tão inteligente assim, subcomandante?”
“Ninguém é tão inteligente assim”, respondeu Thomas.
Bondurant balançou a cabeça. “Não é verdade. Algumas pessoas são. E você pode muito bem ser uma delas. Diga a ele para se declarar culpado. Três policiais morreram naquela cidade. Os funerais vão dominar as manchetes de amanhã. Se ele se declarar culpado pelo assalto a banco e, sei lá eu, conduta imprudente, recomendarei doze.”
“Anos?”
“Por três policiais mortos? É uma pena leve, Thomas.”
“Cinco.”
“Como disse?”
“Cinco anos”, repetiu Thomas.
“Sem chance.” Bondurant balançou a cabeça.
Thomas permaneceu sentado na cadeira, sem se mexer.
Bondurant tornou a balançar a cabeça.
Thomas pousou o tornozelo de uma perna sobre a outra.
“Olhe aqui”, disse Bondurant.
Thomas inclinou a cabeça de leve.
“Permita que eu esclareça uma ou duas falsas impressões, subcomandante.”
“Investigador-chefe.”
“Como disse?”
“Fui rebaixado ontem para investigador-chefe.”
O sorriso não chegou aos lábios de Bondurant, mas atravessou seu olhar. Só uma centelha, depois sumiu. “Então não precisamos falar sobre a falsa impressão que eu ia esclarecer.”
“Não tenho nenhuma falsa impressão ou ilusão”, disse Thomas. “Sou um homem prático.” Ele sacou uma fotografia do bolso e a pôs sobre a mesa de Bondurant.
O promotor baixou os olhos para a imagem. Uma porta vermelha, desbotada, com o número 29 no centro. Era a porta de uma casa geminada em Back Bay. Dessa vez, a expressão que atravessou o olhar de Bondurant foi o oposto da alegria.
Thomas encostou um dedo na mesa do outro homem. “Se você transferir seus encontros para outro imóvel, eu vou saber em menos de uma hora. Pelo que ouvi dizer, está enchendo um cofre de guerra e tanto para a candidatura a governador. É melhor esse cofre ser bem fundo, excelência. Um homem com um cofre de guerra bem fundo é capaz de enfrentar qualquer adversário.” Thomas pôs o chapéu na cabeça. Ajeitou o centro da aba até se certificar de que estava direito.
Bondurant seguiu olhando para o pedaço de papel sobre a mesa. “Vou ver o que posso fazer.”
“Ver o que você pode fazer tem muito pouco interesse para mim.”
“Eu sou um só.”
“Cinco”, disse Thomas. “Ele vai pegar cinco anos.”
Foi preciso mais quinze dias antes de um antebraço de mulher ir dar na costa de Nahant. Três dias depois disso, um pescador ao largo de Lynn capturou um fêmur em sua rede. O médico-legista declarou que o fêmur e o antebraço pertenciam ao mesmo indivíduo — uma mulher de vinte e poucos anos, provavelmente de origem norte-europeia, sardenta e de pele clara.
No caso estado de Massachusetts versus Joseph Coughlin, Joe se declarou culpado de incitação ao crime e assalto à mão armada. Foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão.
Tinha certeza de que ela estava viva.
Tinha certeza porque a alternativa era algo com o qual não conseguia viver. Tinha fé na existência dela porque não ter essa fé o fazia sentir-se desamparado, amputado.
“Ela morreu”, disse-lhe o pai pouco antes de ele ser transferido da Cadeia do Condado de Suffolk para a Penitenciária de Charlestown.
“Não morreu, não.”
“Seja sensato.”
“Ninguém a viu dentro do carro quando ele saiu da estrada.”
“Em alta velocidade, debaixo de chuva e à noite? Eles a puseram naquele carro, filho. O carro saiu da estrada. Ela morreu e foi levada para o mar.”
“Só acredito quando vir o corpo.”
“As partes do corpo não bastaram?” Seu pai ergueu uma das mãos para se desculpar. Quando tornou a falar, a voz saiu mais suave. “O que vai ser preciso para você escutar a voz da razão?”
“A voz da razão não diz que ela morreu. Não quando eu sei que ela está viva.”
Quanto mais Joe repetia isso, mais certeza tinha de que ela estava morta. Sentia isso do mesmo jeito que podia sentir que ela o havia amado, embora o tivesse traído. Mas, se admitisse, se encarasse esse fato, o que lhe restaria a não ser cinco anos na pior prisão do nordeste do país? Sem amigos, sem Deus, sem família.
“Ela está viva, pai.”
O pai passou algum tempo a observá-lo. “O que você amava nela?”
“Não entendi.”
“O que você amava naquela mulher?”
Joe buscou as palavras certas. Acabou topando com algumas que lhe pareceram menos inadequadas do que as outras. “Comigo, ela estava se transformando em algo diferente do que mostrava para o resto do mundo. Algo mais suave, sei lá.”
“Isso é amar uma possibilidade, não uma pessoa.”
“E como é que o senhor iria saber?”
Ouvir isso fez seu pai inclinar a cabeça. “Você foi o filho que deveria ter encurtado a distância entre sua mãe e mim. Sabia disso?”
“Eu sabia sobre a distância”, respondeu Joe.
“Então viu como o plano deu certo. As pessoas não consertam umas às outras, Joseph. E elas nunca se transformam em nada a não ser no que sempre foram.”
“Não acredito nisso”, disse Joe.
“Não acredita? Ou não quer acreditar?” Seu pai fechou os olhos. “Cada respiração que damos é uma sorte, filho.” Quando os abriu, estavam rosados nos cantos. “Realização profissional? Depende da sorte... de nascer no lugar certo, na hora certa, com a cor certa. De viver tempo suficiente para estar no lugar certo na hora certa e fazer fortuna. Sim, sim, trabalho árduo e talento podem compensar a diferença. São coisas cruciais, e você sabe que eu jamais iria afirmar o contrário. Mas a base de todas as vidas é sorte. Boa ou má. Sorte é vida, e vida é sorte. E a sorte começa a escorrer no mesmo instante em que chega à sua mão. Não desperdice a sua se consumindo por uma mulher morta que nunca mereceu você.”
Joe contraiu o maxilar, mas tudo o que disse foi: “Cada um faz a própria sorte, pai”.
“Às vezes”, concordou Thomas. “Mas outras vezes é a sorte que faz você.”
Os dois passaram algum tempo sentados em silêncio. O coração de Joe nunca tinha batido tão forte. Desferia socos em seu peito como um punho descontrolado. Ele sentiu pena do próprio coração como sentiria pena de algo externo a si mesmo, um cão vadio em noite de chuva, talvez.
Seu pai conferiu o relógio e tornou a guardá-lo no colete. “Na sua primeira semana lá dentro, alguém provavelmente vai ameaçar você. Ou na segunda, no máximo. Você vai ver o que ele quer nos olhos, quer ele diga ou não.”
Joe sentiu a boca muito seca.
“Então alguma outra pessoa, um cara bacana de verdade, vai defender você no pátio ou no refeitório. E, depois de fazer o outro sujeito recuar, vai lhe oferecer proteção pelo resto da sua pena. Escute o que vou dizer, Joe: é esse cara que você precisa machucar. Machucar tanto que ele nunca mais consiga ficar forte o suficiente para machucar você. Mire no cotovelo ou no joelho. Ou nos dois.”
Os batimentos cardíacos de Joe chegaram a uma artéria em seu pescoço. “E aí eles vão me deixar em paz?”
Seu pai lhe deu um sorriso contraído e começou a menear a cabeça, mas o sorriso desapareceu e o meneio de cabeça foi junto. “Não, não vão.”
“Então o que vai fazer eles pararem?”
Seu pai desviou os olhos por um instante, com a mandíbula contraída. Quando tornou a encarar o filho, tinha os olhos secos. “Nada.”
7
NA BOCA
A distância da Cadeia do Condado de Suffolk até a Pentenciária de Charlestown não chegava a dois quilômetros. O tempo que levaram para colocá-los no ônibus e prender no chão do veículo as correntes que lhes cingiam os tornozelos daria para terem ido a pé. Foram quatro prisioneiros transportados nessa manhã — um negro magro e um russo gordo cujos nomes Joe nunca chegou a saber, Norman, um garoto branco molenga e trêmulo, e Joe. Norman e Joe já tinham conversado na cadeia algumas vezes, porque a cela de Norman ficava em frente à de Joe. Norman tivera o infortúnio de sucumbir aos encantos da filha do homem de cujo estábulo de cavalos cuidava, em Pinckney Street, no alto de Beacon Hill. A menina, que tinha quinze anos, engravidou, e Norman, que tinha dezessete e era órfão desde os doze, pegou três anos por estupro em um presídio de segurança máxima.
Contou a Joe que vinha lendo a Bíblia, e que estava disposto a se redimir das transgressões que cometera. Disse a Joe que o Senhor iria acompanhá-lo e que todo homem carregava o bem dentro de si, que mesmo no mais reles dos homens era possível encontrar uma grande quantidade de bem, e que ele desconfiava que fosse encontrar mais bem atrás dos muros do presídio do que havia encontrado fora deles.
Joe nunca tinha visto uma criatura mais aterrorizada em toda a vida.
Enquanto o ônibus sacolejava pela Charles River Road, um guarda tornou a verificar as correntes em seus tornozelos e se apresentou como sr. Hammond. Informou-lhes que suas celas ficariam localizadas na Ala Leste, com exceção, naturalmente, do crioulo, que ficaria na Ala Sul junto com os outros da sua espécie.
“Mas as regras se aplicam a todos vocês, seja qual for sua cor ou seu credo. Jamais encarem nenhum guarda nos olhos. Jamais questionem a ordem de nenhum guarda. Jamais cruzem o caminho de terra batida que margeia o muro. Jamais toquem em si mesmos ou uns nos outros de forma antinatural. Cumpram sua pena como bons marinheiros de primeira viagem, sem reclamações nem má vontade, e assim vamos poder conviver em harmonia ao longo do caminho rumo à sua libertação.”
O presídio tinha mais de cem anos; as construções originais, de granito escuro, haviam sido incrementadas com estruturas mais recentes feitas de tijolo vermelho. O coração do complexo disposto em formato de cruz era composto de quatro alas que partiam de uma torre central. No alto da torre ficava uma cúpula, ocupada o tempo inteiro por guardas armados com fuzis, apontando para cada direção em que os detentos pudessem fugir. Era cercado por trilhos de trem e fábricas, fundições e tecelagens que desciam o rio margeando o lado norte da cidade até Somerville. As fábricas produziam fogões, as tecelagens, tecidos, e as fundições impregnavam o ar com vapores de magnésio, cobre e ferro fundido. Quando o ônibus desceu a colina e chegou ao terreno plano, o céu se escondeu por trás de um teto de fumaça. Um trem da Eastern Freight apitou, e tiveram de esperar que passasse antes de poderem atravessar a via férrea e percorrer os últimos trezentos metros até o presídio.
O ônibus parou, o sr. Hammond e outro guarda soltaram suas correntes, e Norman começou a tremer e em seguida a chorar copiosamente; lágrimas escorriam por sua mandíbula como suor.
“Norman”, disse Joe.
O garoto olhou para ele.
“Não faça isso.”
Mas Norman não conseguia parar.
Sua cela ficava na galeria superior da Ala Leste. Passava o dia inteiro fritando debaixo do sol, e conservava o calor durante a noite inteira. As celas em si não tinham energia elétrica. Esta se limitava aos corredores, refeitório, e a cadeira elétrica na Casa da Morte. As celas eram iluminadas por luz de velas. A Penitenciária de Charlestown tampouco recebera encanamento, de modo que os detentos mijavam e cagavam em baldes de madeira. A cela de Joe fora construída para um único prisioneiro, mas quatro camas tinham sido empilhadas lá dentro. Seus três companheiros de cela se chamavam Oliver, Eugene e Tooms. Oliver e Eugene eram assaltantes à mão armada típicos de Revere e Quincy, respectivamente. Ambos já haviam trabalhado para a máfia de Hickey. Nunca lhes acontecera trabalhar com Joe ou nem sequer tinham ouvido falar dele, mas, depois de uma troca geral de nomes de parte a parte, ficaram convencidos de que ele era legal o suficiente para não expulsá-lo da cela apenas para marcar uma posição.
Tooms era mais velho e mais calado. Tinha cabelos sebentos e membros finos, e atrás de seus olhos vivia algo imundo para o qual ninguém queria olhar. Quando o sol se pôs na primeira noite que iriam passar juntos, Tooms ficou sentado em seu beliche de cima, pernas dependuradas pela borda, e de vez em quando Joe via aquele olhar inexpressivo se voltar na sua direção e era preciso um esforço hercúleo para sustentá-lo e em seguida desviar casualmente os próprios olhos.
Joe dormia em um dos beliches inferiores, em frente a Oliver. Tinha o pior colchão de todos, a cama era afundada no meio e o lençol áspero, roído por traças e com cheiro de cachorro molhado. Ele deu cochilos intermitentes, mas não chegou a dormir.
Pela manhã, Norman foi falar com ele no pátio. Seus olhos estavam roxos e o nariz parecia quebrado, e Joe estava prestes a lhe perguntar o que tinha acontecido quando Norman fez uma careta, mordeu o lábio inferior e lhe deu um soco no pescoço. Joe deu dois passos para a direita, ignorou a ardência e pensou em perguntar por quê, mas não teve tempo. Norman partiu para cima dele, os braços erguidos em uma postura canhestra. Se evitasse a cabeça e começasse a lhe bater no corpo, Joe estaria perdido. As costelas ainda não haviam se recuperado; sentar na cama de manhã ainda provocava tanta dor que ele chegava a ver estrelas. Ele se esquivou, revirando a terra batida com os calcanhares. Bem acima deles, os guardas da torre de vigia fitavam o rio a oeste ou o oceano a leste. Norman desferiu um soco do outro lado de seu pescoço, e Joe levantou o pé e o fez descer sobre a patela de Norman.
O garoto caiu de costas, com a perna direita formando um ângulo esquisito. Rolou pelo chão de terra batida, e então usou o cotovelo para tentar se levantar. Quando Joe lhe deu um segundo pisão no joelho, metade do pátio ouviu a perna de Norman se quebrar. O som que saiu da boca dele não foi propriamente um grito. Foi algo mais suave e mais grave, um som abafado, como o que um cachorro emitiria depois de rastejar para baixo de uma casa para morrer.
Norman ficou caído no chão, seus braços caíram junto às laterais do corpo e as lágrimas escorreram de seus olhos para dentro das orelhas. Joe sabia que poderia ajudá-lo a se levantar agora que ele já não representava perigo, mas que isso seria visto como fraqueza. Afastou-se. Atravessou o pátio, que às nove da manhã já estava um forno, e sentiu os olhos pregados nele, mais olhos do que foi capaz de contar, todos observando, decidindo qual seria o próximo teste, por quanto tempo iriam brincar com o rato antes de darem um golpe de verdade com as garras.
Norman não era nada. Norman era um aquecimento. E se alguém ali percebesse quanto as costelas de Joe estavam machucadas — no momento, o simples fato de respirar doía pra cacete; andar também doía —, pela manhã nada restaria exceto ossos.
Joe tinha visto Oliver e Eugene perto do muro oeste, mas agora observou as costas dos dois homens sumirem no meio de uma multidão. Nenhum dos dois queria se meter com ele antes de ver como aquilo iria acabar. Pegou-se, portanto, caminhando em direção a um grupo de homens que não conhecia. Se parasse de repente e olhasse em volta, ficaria com cara de bobo. E ali, ter cara de bobo equivalia a ser fraco.
Chegou ao grupo de homens e ao lado mais afastado do pátio, junto ao muro, mas eles também se afastaram.
Foi assim o dia inteiro — ninguém quis falar com ele. Fosse qual fosse a sua doença, ninguém queria pegá-la.
Nessa noite, ele voltou para uma cela vazia. Seu colchão — aquele cheio de calombos — estava no chão. Os outros haviam desaparecido. As camas tinham sido retiradas. Tudo havia sido retirado, exceto o colchão, o lençol áspero e o balde para cagar. Joe olhou para trás em direção ao sr. Hammond enquanto este trancava a porta atrás de si.
“Para onde foram os outros?”
“Eles foram”, respondeu o sr. Hammond, e começou a descer a galeria.
Pela segunda noite seguida, Joe ficou deitado na cela quente e mal conseguiu dormir. Não foi só por causa das costelas, nem só por causa do medo — o fedor do presídio só era igualado pelo fedor das fábricas lá fora. No alto da cela, a uns três metros de altura, havia uma janelinha. Talvez a ideia de colocá-la ali fosse dar ao prisioneiro um misericordioso gostinho do mundo exterior. Agora, porém, não passava de um duto para a fumaça da fábrica, para o cheiro fétido de tecidos e carvão queimado. No calor da cela, enquanto insetos corriam pelas paredes e homens grunhiam no meio da noite, Joe não conseguiu imaginar como conseguiria sobreviver cinco dias ali dentro, que dirá cinco anos. Havia perdido Emma, havia perdido a liberdade, e agora podia sentir a própria alma começar a ratear e perder força. O que estavam lhe tirando era tudo o que ele possuía.
O dia seguinte foi mais do mesmo. E mais ainda no dia subsequente. Todos de quem ele se aproximava se afastavam. Todos com quem cruzava olhares desviavam os olhos. No entanto, podia sentir que o observavam assim que ele olhava para longe. Era tudo o que estavam fazendo, todos os detentos do presídio — observando Joe.
E esperando.
“Esperando o quê?”, indagou ele no apagar das luzes, enquanto o sr. Hammond virava a chave na porta da cela. “O que eles estão esperando?”
O sr. Hammond o encarou por entre as barras com seus olhos baços.
“É que eu estou disposto a esclarecer as coisas com quem quer que tenha ofendido”, disse Joe. “Isso se é que eu ofendi alguém. Porque, se ofendi, não foi por querer. Assim sendo, estou disposto a...”
“Você está bem na boca”, disse o sr. Hammond. Olhou para as galerias dispostas acima e atrás dele. “Ela talvez decida ficar revirando você na língua, para lá e para cá. Ou talvez morda com bastante força e crave os dentes em você. Ou então vai deixar você escalar os dentes e pular para fora. Mas quem decide é ela. Não você.” O sr. Hammond balançou seu enorme molho de chaves em círculo antes de prendê-lo ao cinto. “É só esperar.”
“Quanto tempo?”, quis saber Joe.
“Até a boca decidir.” O sr. Hammond pôs-se a subir a galeria.
O menino que foi atrás dele no dia seguinte não passava disso: um menino. Trêmulo, olhos esquivos, mas não menos perigoso por causa disso. Joe estava a caminho do banho de sábado quando o garoto saiu da fila, uns dez homens à frente, e foi andando na sua direção.
Na mesma hora em que o garoto saiu da fila, Joe entendeu que ele estava indo atacá-lo, mas não havia nada que pudesse fazer para impedi-lo. O garoto usava suas calças e casaco listrados de presidiário e carregava toalha e sabonete como os outros, mas trazia também na mão direita um descascador de batatas com as pontas afiadas por uma pedra de amolar.
Joe saiu da fila na direção do garoto e este fez que iria seguir em frente, mas então largou a toalha e o sabonete, plantou o pé no chão e avançou o braço em direção à cabeça de Joe. Joe se esquivou para a direita e o garoto deve ter previsto isso, pois mirou do lado esquerdo e plantou o descascador de batatas na parte interna de sua coxa. Joe nem sequer teve tempo de registrar a dor antes de escutar o garoto puxar a arma. Foi o barulho que o enfureceu. Parecia um barulho de pedaços de peixe se esvaindo pelo ralo. Sua carne, seu sangue, nacos dele mesmo pendiam da ponta daquela arma.
No golpe seguinte, o garoto tentou acertar a barriga ou a virilha de Joe: ele não soube dizer ao certo, tantas foram as respirações ofegantes e os movimentos rápidos à esquerda e direita, direita e esquerda. Avançou para o vão entre os braços do garoto, segurou sua cabeça por trás e a puxou em direção ao próprio peito. O garoto desferiu um novo golpe, dessa vez no seu quadril, mas foi uma punhalada fraca, sem energia. Mesmo assim, doeu mais do que a mordida de um cão. Quando o garoto retirou o braço para pegar mais impulso, Joe o empurrou para trás até rachar sua cabeça contra o muro de granito.
O garoto deu um suspiro e deixou cair o descascador, e Joe bateu com sua cabeça no muro mais duas vezes, para ter certeza. O garoto escorregou para o chão.
Joe nunca o tinha visto antes.
Na enfermaria, um médico limpou suas feridas, costurou a da coxa e envolveu-a com uma atadura bem apertada. O médico recendia a algum produto químico, e lhe disse para não fazer força com a perna nem com o quadril por algum tempo.
“E como faço isso?”, quis saber Joe.
O médico seguiu falando como se Joe não tivesse dito nada. “E mantenha os ferimentos limpos. Troque o curativo duas vezes por dia.”
“O senhor tem mais ataduras para me dar?”
“Não”, respondeu o médico, parecendo ressentido com a estupidez da pergunta.
“Nesse caso...”
“Prontinho”, disse o médico, recuando alguns passos.
Ele esperou os guardas virem administrar sua punição pela briga. Esperou para saber se o garoto que o havia atacado estava vivo ou morto. Mas ninguém lhe disse nada. Foi como se ele houvesse imaginado o incidente todo.
No apagar das luzes, perguntou ao sr. Hammond se ele ouvira falar na briga a caminho dos chuveiros.
“Não.”
“Não, não ouviu falar?”, indagou Joe. “Ou não, não houve briga?”
“Não”, repetiu o sr. Hammond, e se afastou.
Alguns dias depois da agressão com o descascador, um detento o abordou. Não havia nada de especial em sua voz — um leve sotaque (italiano, avaliou ele) e um timbre rascante — mas, depois de uma semana de silêncio quase total, esta lhe soou tão linda que a garganta de Joe se contraiu e seu peito se encheu de emoção.
O detento era um velho de óculos grossos demasiado grandes para o seu rosto. Aproximou-se dele no pátio enquanto Joe o atravessava mancando. Estivera na fila do chuveiro no sábado anterior. Joe se lembrou disso porque o velho lhe parecera tão frágil que mal dava para imaginar os horrores que aquele lugar lhe havia infligido ao longo dos anos.
“Acha que vai demorar para eles ficarem sem homens para brigar com você?”
Ele tinha mais ou menos a altura de Joe. Era calvo no topo da cabeça, com tufos de cabelos prateados nas laterais do mesmo tom de um finíssimo bigode. Pernas compridas e um tronco curto e atarracado. Mãos miúdas. Havia certa delicadeza em seu jeito de andar quase na ponta dos dedos, como um ladrão sorrateiro, mas os olhos eram tão inocentes e esperançosos quanto os de uma criança no primeiro dia de escola.
“Não acho que eles vão ficar sem”, respondeu Joe. “Há muitos candidatos.”
“Você não vai se cansar?”
“É claro que vou”, disse Joe. “Mas acho que vou aguentar quanto puder.”
“Você é muito rápido.”
“Sou rápido, não muito rápido.”
“É, sim.” O velho abriu uma bolsinha de lona e pegou dois cigarros. Estendeu um deles para Joe. “Assisti às suas duas brigas. Você é tão rápido que a maioria desses homens não percebeu que está protegendo as costelas.”
Joe parou de andar enquanto o velho acendia ambos os cigarros com um fósforo que riscou na unha. “Não estou protegendo nada.”
O velho sorriu. “Há muito tempo, em outra vida, antes disto aqui”, ele gesticulou para além dos muros e do arame, “eu agenciei alguns boxeadores. Alguns praticantes de luta livre também. Nunca ganhei muito dinheiro, mas conheci muitas mulheres bonitas. Boxeadores atraem mulheres bonitas. E mulheres bonitas viajam acompanhadas por outras mulheres bonitas.” Ele deu de ombros, e os dois recomeçaram a andar. “Então eu sei quando alguém está protegendo as costelas. Estão quebradas?”
“Não há nada de errado com elas”, respondeu Joe.
“Prometo que, se eles me mandarem brigar com você, vou me limitar a segurar seus tornozelos e segurar com força”, disse o velho.
Joe deu uma risadinha. “Só os tornozelos, é?”
“Talvez o nariz, caso surja uma chance.”
Joe observou o velho. Ele devia estar ali havia tanto tempo que já vira todas as esperanças morrerem e experimentara todo tipo de degradação, e agora todos o deixavam em paz porque ele tinha sobrevivido a tudo o que fora feito contra ele. Ou talvez porque fosse apenas um saco de rugas, sem atrativo algum para fins de troca. Inofensivo.
“Bom, para proteger o meu nariz...”, Joe tragou fundo o cigarro. Tinha se esquecido de como um cigarro podia ser bom quando não se sabia de onde viria o próximo. “Faz alguns meses que quebrei seis costelas e fraturei ou desloquei o resto.”
“Faz alguns meses. Então faltam só uns dois meses.”
“Não. Sério?”
O velho aquiesceu. “Costelas quebradas são como corações partidos... levam pelo menos seis meses para cicatrizar.”
É esse o tempo que leva, pensou Joe?
“Quem dera as refeições durassem tanto assim.” O velho esfregou a pequena pança. “Como as pessoas o chamam?”
“Joe.”
“Nunca Joseph?”
“Só meu pai.”
O homem aquiesceu e soltou uma nuvem de fumaça com vagaroso deleite. “Não existe esperança neste lugar. Mesmo estando aqui há tão pouco tempo, tenho certeza de que já chegou à mesma conclusão.”
Joe assentiu.
“Este lugar devora as pessoas. Nem sequer as cospe depois.”
“Quanto tempo faz que o senhor está aqui?
“Ah, parei de contar já faz muitos anos”, respondeu o velho. Ergueu os olhos para o céu azul engordurado e cuspiu um pedaço de fumo preso na língua. “Não há nada neste lugar que eu não conheça. Se precisar de ajuda para entender alguma coisa, é só perguntar.”
Joe duvidou que o velhote estivesse tão sintonizado com a vida do presídio quanto imaginava estar, mas não viu problema em dizer: “Pode deixar. Obrigado. Agradeço pela confiança”.
Chegaram ao fim do pátio. Quando estavam se virando para percorrer de volta o caminho pelo qual tinham vindo, o velho passou um braço ao redor dos ombros de Joe.
O pátio inteiro os observava.
O velho jogou o cigarro no chão e estendeu a mão. Joe a apertou.
“Meu nome é Tommaso Pescatore, mas todos me chamam de Maso. Pode se considerar meu protegido.”
Joe conhecia esse nome. Maso Pescatore mandava na parte norte de Boston e na maioria da jogatina e prostituição do litoral norte de Massachusetts. De trás daqueles muros, ele controlava grande quantidade da bebida que vinha da Flórida. Tim Hickey já trabalhara muito com ele ao longo dos anos e costumava dizer que a extrema cautela era a única atitude sensata ao se relacionar com aquele homem.
“Eu não pedi para ser seu protegido, Maso.”
“Quantas coisas na vida, sejam elas boas ou más, aparecem para nós quer as tenhamos pedido ou não?” Maso retirou o braço do ombro de Joe e levou uma das mãos ao cenho para proteger os olhos do sol. Onde antes Joe vira apenas inocência naquele olhar, agora viu astúcia. “Pode me chamar de sr. Pescatore de agora em diante, Joseph. E dê isto ao seu pai da próxima vez que o vir.” Maso passou discretamente um pedacinho de papel para a mão de Joe.
Joe olhou o endereço rabiscado ali: 1417, Blue Hill Ave. Só isso — nenhum nome, nenhum número de telefone, apenas o endereço.
“Entregue ao seu pai. Só desta vez. É tudo o que vou lhe pedir.”
“E se eu não entregar?”, perguntou Joe.
Maso pareceu genuinamente desconcertado com a pergunta. Inclinou a cabeça para um dos lados e olhou para Joe, e um pequeno e esquisito sorriso se formou em seus lábios. O sorriso foi se alargando até se transformar em uma risada baixinha. Ele balançou a cabeça várias vezes. Cumprimentou Joe com uma saudação usando os dedos indicador e médio e voltou para junto do muro, onde seus homens o aguardavam.
Na sala de visitas, Thomas observou o filho entrar mancando e se sentar.
“O que houve?”
“Um cara me apunhalou na perna.”
“Por quê?”
Joe balançou a cabeça. Deslizou a palma da mão pela mesa, e Thomas viu o pedacinho de papel debaixo dela. Fechou a mão por cima da do filho por alguns instantes, saboreando aquele contato e tentando se lembrar da razão de haver passado mais de uma década sem tomar a iniciativa de fazê-lo. Pegou o pedaço de papel e guardou no bolso. Olhou para o filho, para os olhos cercados de olheiras escuras e para o espírito conspurcado, e de repente entendeu tudo.
“Tenho que fazer o que alguém está mandando”, falou.
Joe ergueu os olhos da mesa e encarou o pai.
“Quem é, Joseph?”
“Maso Pescatore.”
Thomas se recostou na cadeira e se perguntou quanto exatamente amava o filho.
Joe leu a pergunta nos olhos do pai. “Não tente me dizer que o senhor é honesto, pai.”
“Eu faço negócios civilizados com pessoas civilizadas. Você está me pedindo para obedecer a um bando de carcamanos recém-saídos das cavernas.”
“Não estou pedindo isso.”
“Não? O que tem neste pedaço de papel?”
“Um endereço.”
“Só um endereço?”
“É. Não sei nada além disso.”
Seu pai aquiesceu repetidas vezes, soltando o ar pelas narinas.
“Não sabe porque você é uma criança. Um italiano qualquer lhe passa um endereço para entregar ao seu pai, funcionário graduado da polícia, e você não entende que a única coisa que esse endereço pode indicar é a localização do estoque ilícito de um rival.”
“Estoque de quê?”
“Mais provavelmente um armazém abarrotado de bebida até o teto.” Seu pai ergueu os olhos para o teto e passou uma das mãos pelos cabelos brancos cortados curtos.
“Ele disse que era só desta vez.”
Seu pai lhe lançou um sorriso mau. “E você acreditou.”
Thomas saiu da prisão.
Desceu o caminho em direção a seu carro, rodeado pelo cheiro de produtos químicos. Fumaça saía das chaminés das fábricas. Era cinza-escura na maioria dos pontos, mas pintava o céu de marrom e a terra de preto. Trens resfolegavam pelos arredores; por algum motivo estranho, fizeram Thomas pensar em lobos rodeando uma barraca de atendimento médico.
Já tinha mandado pelo menos mil homens para aquele presídio ao longo de sua carreira. Muitos haviam morrido entre as paredes de granito. Caso lá chegassem com alguma ilusão em relação à decência humana, não demoravam a perdê-la. Havia detentos demais e guardas de menos para que a prisão fosse administrada como algo diferente do que era — um local de despejo, e em seguida um campo de provas, para animais. Se você entrasse lá homem, saía fera. Se entrasse animal, aperfeiçoava seus talentos.
Temia que o filho fosse mole demais. Apesar de todas as suas transgressões ao longo dos anos, apesar de ele ignorar a lei, apesar de ser incapaz de obedecer a Thomas ou às regras ou a praticamente qualquer outra coisa, Joseph era o menos defendido de seus filhos. Mesmo através do mais grosso casaco de inverno, dava para ver seu coração.
Thomas chegou a um telefone reservado para uso da polícia no fim do caminho. Sua chave estava presa à corrente do relógio, e ele a usou para abrir a caixa do telefone. Olhou para o endereço que tinha na mão: 1417, Blue Hill Avenue, Mattapan. Bairro de judeus. O que significava que o armazém devia pertencer a Jacob Rosen, conhecido fornecedor de Albert White.
White a essa altura já estava de volta à cidade. Não passara sequer uma noite na cadeia, provavelmente porque havia contratado Jack D’Jarvis para cuidar de sua defesa.
Thomas tornou a olhar para a prisão que era agora o lar de seu filho. Uma tragédia, mas nada que surpreendesse muito. Seu filho havia escolhido o caminho que o conduzira até ali durante anos de firme objeção e reprovação de Thomas. Se Thomas usasse aquele telefone, estaria casado com a máfia de Pescatore para o resto da vida — com uma raça de pessoas que fizera aportar nas costas daquela nação o anarquismo e seus especialistas em bombas, assassinos e a Mano Nera, e agora, organizados em algo que segundo os boatos se chamava omertà organiza, haviam dominado à força todo o comércio de bebida ilegal.
E ele deveria lhes dar mais ainda?
Trabalhar para eles?
Beijar seus anéis?
Fechou a caixa do telefone, tornou a guardar o relógio no bolso e andou até o carro.
Passou dois dias pensando no pedaço de papel. Dois dias rezando para o Deus que temia não existir. Rezou para ser guiado. Rezou pelo filho atrás daqueles muros de granito.
* * *
Sábado era sua folga, e Thomas estava trepado em uma escada retocando a pintura dos caixilhos pretos das janelas da casa na K Street quando o homem apareceu lá embaixo pedindo informações. A tarde estava quente, úmida, e algumas nuvens roxas ondulavam na sua direção. Ele olhou por uma das janelas do segundo andar, no que antigamente tinha sido o quarto de Aiden. O cômodo passara três anos vazio antes de sua mulher, Ellen, transformá-lo em quarto de costura. Ela morrera dormindo fazia dois anos, de modo que agora não havia mais nada no quarto a não ser uma máquina de costura movida a pedal e uma estante vazada de madeira na qual estavam penduradas as mesmas roupas que aguardavam conserto dois anos antes. Thomas mergulhou o pincel na lata de tinta. Aquele sempre seria o quarto de Aiden.
“Estou meio perdido.”
Thomas olhou de cima da escada para o homem em pé na calçada, dez metros abaixo. Vestia um terno de anarruga azul-claro, uma camisa branca e uma gravata-borboleta vermelha, e não usava chapéu.
“Posso ajudá-lo?”, indagou Thomas.
“Estou procurando os banhos públicos da L Street.”
Lá de cima, Thomas podia ver a casa de banhos, e não apenas o telhado — podia ver o edifício de tijolos inteiro. Via a pequena lagoa mais adiante e, além da lagoa, o oceano Atlântico que se estendia a perder de vista até a terra em que nascera.
“No final da rua.” Thomas apontou, meneou a cabeça para o homem e tornou a se virar para o pincel.
“Logo no final da rua, é?”, indagou o homem. “Por ali?”
Thomas tornou a se virar para ele e aquiesceu, agora com os olhos pregados no homem.
“Às vezes eu me atrapalho todo”, disse o estranho. “Já aconteceu com o senhor? Quando sabe o que tem de fazer, mas simplesmente se atrapalha todo?”
O homem era louro e sem graça, bonito, mas de um jeito fácil de esquecer. Nem alto nem baixo, nem gordo nem magro.
“Eles não vão matá-lo”, falou ele em um tom amigável.
“Como disse?”, perguntou Thomas, largando o pincel dentro da lata de tinta.
O homem encostou a mão na escada.
De onde ele estava, não seria preciso muita coisa.
O homem estreitou os olhos para Thomas, depois olhou para a rua mais adiante.
“Mas vão fazê-lo desejar que tivesse morrido. Fazê-lo desejar isso todos os dias de sua vida.”
“O senhor sabe qual é a minha patente no Departamento de Polícia de Boston, não sabe?”, indagou Thomas.
“Ele vai pensar em suicídio”, prosseguiu o homem. “É claro que vai. Mas eles o manterão vivo prometendo matar o senhor caso ele o faça. E sabe o que mais? A cada dia vão pensar em algo novo para testar com ele.”
Um Ford T preto afastou-se do meio-fio e ficou parado no meio da rua, com o motor ligado. O homem desceu da calçada, entrou, e o carro foi embora, dobrando na primeira à esquerda que encontraram.
Thomas desceu da escada, surpreso ao constatar que os antebraços tremiam mesmo depois de entrar em casa. Estava ficando velho, muito velho. Não deveria trepar em escadas. Não deveria se ater a princípios.
Ficar velho era permitir que o novo descartasse você demonstrando o máximo de cortesia de que fosse capaz.
Ligou para Kenny Donlan, capitão do terceiro distrito policial de Mattapan. Durante cinco anos, Kenny fora tenente de Thomas no sexto distrito do sul de Boston. Assim como muitos dos membros graduados da corporação, devia a ele o seu sucesso.
“E na sua folga, ainda por cima”, comentou Kenny depois de a sua secretária transferir a ligação de Thomas.
“Ah, pessoas como nós não têm folga, rapaz.”
“Verdade”, disse Kenny. “Em que posso ajudá-lo, Thomas?”
“Um quatro um sete Blue Hill Avenue”, disse Thomas. “Um armazém, supostamente para estocar equipamentos de jogo.”
“Mas não é isso que tem lá”, falou Kenny.
“Não.”
“Até que ponto você quer que estouremos o lugar?”
“Até a última garrafa”, respondeu Thomas, e algo dentro dele soltou um grito ao morrer. “Até a última gota.”
8
NA PENUMBRA
Nesse verão, na Penitenciária de Charlestown, o estado de Massachusetts se preparou para executar dois célebres anarquistas. Protestos globais não conseguiram desviar o estado de sua missão, tampouco uma profusão de recursos, suspensões e novos recursos. Uma semana depois de Sacco e Vanzetti serem levados de Dedham para Charlestown e abrigados na Casa da Morte para aguardar a cadeira elétrica, o sono de Joe foi interrompido por turbas de cidadãos indignados reunidos do outro lado dos muros escuros de granito. Às vezes passavam a noite inteira lá, entoando canções, gritando em megafones e cantando seus slogans. Em muitas noites Joe imaginou que deviam ter levado tochas para dar um aspecto medieval ao protesto, pois acordou sentindo cheiro de piche queimado.
Tirando algumas noites de sono entrecortado, porém, o destino dos dois condenados não teve nenhum impacto na vida de Joe nem na de ninguém que ele conhecesse com exceção de Maso Pescatore, forçado a sacrificar seus passeios noturnos em cima dos muros da prisão até o mundo parar de observar.
Na famosa noite de fim de agosto, o excesso de energia usado nos infelizes italianos prejudicou o resto da eletricidade do presídio, e as luzes das galerias piscaram e diminuíram de intensidade, isso quando não se apagaram por completo. Os anarquistas mortos foram levados para o cemitério de Forest Hills e lá cremados. Os manifestantes minguaram, depois se foram.
Maso voltou à rotina noturna que vinha seguindo havia dez anos — caminhar pelo alto dos muros ao longo do arame grosso e espiralado, das torres escuras que davam para o pátio interno e da paisagem desolada de fábricas e barracos do lado de fora.
Muitas vezes levava Joe consigo. Para surpresa de Joe, ele havia se tornado uma espécie de símbolo para Maso — como escalpo e troféu do graduado agente de polícia que agora lhe obedecia, como potencial integrante de sua organização, ou então apenas como animal de estimação; Joe não sabia nem perguntou. Por que perguntar, quando sua presença no alto dos muros à noite com Maso afirmava claramente uma coisa acima de todas as outras: que ele estava protegido.
“Acha que eles eram culpados?”, perguntou Joe certa noite.
Maso deu de ombros. “Não faz diferença. O que importa é o recado.”
“Que recado? Executaram dois caras que talvez fossem inocentes.”
“Foi esse o recado”, disse Maso. “E todos os anarquistas do mundo escutaram.”
Nesse verão, a Penitenciária de Charlestown derramou uma enorme quantidade de sangue sobre si mesma. No início, Joe pensou que a selvageria fosse intrínseca, a maldade inútil do cada um por si, de homens se matando por orgulho — orgulho do próprio lugar na fila, do direito de continuar a andar pelo pátio no caminho que você havia escolhido, de não levar empurrões nem cotoveladas nem ter o pé pisado por ninguém.
A coisa se revelou mais complicada do que isso.
Um detento da Ala Leste perdeu os olhos quando alguém esfregou neles punhados de cacos de vidro. Na Ala Sul, os guardas encontraram um cara com doze facadas abaixo das costelas cujos ferimentos no local, a julgar pelo cheiro, haviam perfurado seu fígado. Detentos a duas galerias de distância sentiram o cheiro do cara morrendo. Joe escutou orgias de estupro vararem a noite no bloco Lawson, assim chamado porque três gerações da família Lawson — o avô, um de seus filhos e três netos — tinham ficado encarceradas lá ao mesmo tempo. O último do clã, Emil Lawson, fora um dia o mais jovem dos detentos Lawson, mas sempre fora o pior e não iria sair dali nunca. Suas penas somavam cento e catorze anos. Boa notícia para Boston, e má notícia para a Penitenciária de Charlestown. Quando não estava comandando estupros coletivos de novos detentos, Emil Lawson cometia assassinatos para quem pagasse, embora, segundo os boatos, estivesse trabalhando exclusivamente para Maso nos distúrbios recentes.
O motivo da guerra era o rum. Uma guerra travada do lado de fora, é claro, para certa consternação do público, mas também do lado de dentro, onde ninguém se lembrava de olhar e não teria derramado uma só lágrima caso tivesse olhado. Albert White, importador de uísque do Norte, decidira se expandir para a importação de rum do Sul antes de Maso Pescatore ser solto. Tim Hickey tinha sido a primeira baixa da guerra White-Pescatore. Quando o verão terminou, porém, o total de mortos chegava a doze.
No campo do uísque, as disputas ocorriam em Boston, Portland, e nas estradas secundárias que partiam da fronteira com o Canadá. Motoristas eram tirados da estrada em cidades como Massena, no estado de Nova York; Derby, em Vermont; e Allagash, no Maine. Alguns eram sequestrados e só levavam uma surra, embora um dos motoristas mais velozes de White tivesse sido obrigado a se ajoelhar sobre um leito de agulhas de pinheiro e levado um tiro na articulação do maxilar por ter sido malcriado.
No caso do rum, a batalha era para impedir sua entrada. Caminhões eram abordados mais ao sul, às vezes até nas Carolinas, e mais ao norte, até Rhode Island. Depois de serem desviados para o acostamento e de os motoristas serem convencidos a descer, as gangues de White tacavam fogo nos veículos. Os caminhões de rum queimavam feito barcos fúnebres dos vikings, amarelando o ventre da noite por muitos quilômetros em todas as direções.
“Ele tem um estoque guardado em algum lugar”, disse Maso durante uma de suas caminhadas. “Está esperando eliminar todo o rum da Nova Inglaterra, e então vai aparecer com a própria mercadoria, como um salvador da pátria.”
“E quem seria burro o suficiente para vender rum a ele?” Joe conhecia a maior parte dos fornecedores do sul da Flórida.
“Não é burrice”, disse Maso. “É inteligência. É o que eu faria se tivesse que escolher entre um negociante esperto feito Albert e um velho que está trancado em uma prisão desde que o tsar perdeu a Rússia.”
“Mas o senhor tem olhos e ouvidos por toda parte.”
O velho aquiesceu. “Mas não são propriamente os meus olhos nem propriamenteos meus ouvidos, e assim sendo não estão conectados à minha mão. E quem administra o poder é a minha mão.”
Nessa noite, um dos guardas pagos por Maso estava de folga em um bar clandestino do sul de Boston quando saiu com uma mulher que ninguém nunca tinha visto antes. Lindíssima, porém, e uma verdadeira profissional. O guarda foi encontrado três horas depois em Franklin Square, sentado em um banco, com um verdadeiro cânion aberto no pomo de adão, mais morto do que Thomas Jefferson.
A pena de Maso iria terminar dali a três meses, e Albert estava começando a aparentar certo desespero, desespero este que só fazia tornar as coisas mais perigosas. Na noite anterior mesmo, Boyd Holter, o melhor falsário de Maso, fora jogado do alto do Edifício Ames, no centro da cidade. Caíra com o cóccix no chão, e pedaços de sua coluna vertebral haviam sido projetados para dentro da caixa craniana feito cascalho.
O pessoal de Maso reagiu mandando pelos ares um dos estabelecimentos de fachada de Albert, um açougue em Morton Street. O cabeleireiro e o armarinho que ladeavam o açougue também pegaram fogo, e vários carros estacionados na rua perderam as janelas e a pintura.
Até agora não havia vencedor, apenas uma baita bagunça.
Junto ao muro do presídio, Joe e Maso pararam para admirar uma lua cor de laranja grande como o próprio céu surgir acima das chaminés das fábricas e dos campos de cinza e veneno negro, e Maso entregou a Joe um pedacinho de papel dobrado.
Joe nem olhava mais para os papéis, apenas os dobrava mais uma ou duas vezes e os escondia em um buraco que havia recortado na sola do sapato até a visita seguinte do pai.
“Abra”, disse Maso antes que ele pudesse guardar o papel.
Joe o encarou; a lua fazia parecer que era dia ali em cima.
Maso confirmou com a cabeça.
Joe virou o pedaço de papel na mão e levantou a dobra de cima com o polegar. No início não conseguiu entender as duas palavras que leu:
Brendan Loomis.
“Ele foi preso ontem à noite”, disse Maso. “Espancou um homem em frente à loja de departamentos Filene’s. Porque os dois queriam comprar o mesmo sobretudo. Porque ele é um selvagem irracional. A vítima tem amigos, então o braço direito de Albert White não vai voltar para o ombro de Albert em momento algum do futuro imediato.” Ele olhou para Joe, com a lua pintando de laranja a pele de seu rosto. “Você o odeia?”
“É claro que odeio”, respondeu Joe.
“Ótimo.” Maso lhe deu um único tapinha no braço. “Entregue o bilhete para o seu pai.”
Na base da tela de cobre que ficava entre Joe e o pai havia uma fenda grande o suficiente para se poder passar bilhetes para lá e para cá. Joe pretendia pôr o recado de Maso do seu lado da fenda e empurrar, mas não conseguiu se forçar a tirá-lo de cima do joelho.
Nesse verão, o rosto de seu pai havia ficado translúcido, feito a casca de uma cebola, e as veias de suas mãos adquiriram um brilho fora do normal — azul vivo, vermelho vivo. Seus olhos e ombros estavam caídos. Os cabelos haviam rareado. Ele aparentava cada dia dos sessenta anos que tinha, e até mais.
Nessa manhã, porém, algo havia feito sua fala recobrar um pouco de energia, e o verde tristonho dos olhos, um pouco de vida.
“Você nunca vai adivinhar quem está chegando à cidade”, disse Thomas.
“Quem?”
“Ninguém menos do que o seu irmão Aiden.”
Ah. Estava explicado. O filho preferido. O amado filho pródigo.
“Quer dizer que Danny vai chegar? Por onde ele andava?”
“Ah, ele andou por toda parte”, respondeu Thomas. “Me escreveu uma carta que levei quinze minutos para ler. Esteve em Tulsa, Austin e até no México. Ultimamente, parece que estava em Nova York. Mas vai chegar a Boston amanhã.”
“Com Nora?”
“Ele não falou nada sobre ela”, disse Thomas, com um tom que indicava que preferia fazer o mesmo.
“Ele disse por que estava vindo?”
Thomas fez que não com a cabeça. “Só disse que está de passagem.” Sua voz se extinguiu enquanto ele olhava para as paredes em volta como se não conseguisse se acostumar com elas. E provavelmente não conseguia mesmo. Quem conseguiria, a menos que fosse obrigado? “Está aguentando firme?”
“Estou...”, Joe deu de ombros.
“Está o quê?”
“Tentando, pai. Estou tentando.”
“Bom, é tudo o que você pode fazer.”
“É.”
Ficaram se encarando através da grade, e Joe encontrou coragem para tirar o bilhete de cima do joelho e o empurrar até o outro lado na direção do pai.
Thomas desdobrou o papel e olhou para o nome ali escrito. Por um bom tempo, Joe não soube dizer ao certo se o pai ainda estava respirando. E então...
“Não.”
“Como é?”
“Não.” Thomas tornou a empurrar o bilhete pela mesa e repetiu. “Não.”
“Maso não gosta dessa palavra, pai.”
“Ah, então agora é ‘Maso’?”
Joe não disse nada.
“Eu não mato por encomenda, Joseph.”
“Não é isso que eles estão pedindo”, disse Joe, pensando: será que é?.
“Até onde será que vai a sua ingenuidade antes de se tornar imperdoável?” Seu pai exalava o ar pelas narinas. “Quando eles lhe passam o nome de um homem que está preso, querem que esse homem seja encontrado enforcado na cela ou baleado nas costas ‘tentando fugir’. Assim sendo, Joe, levando em conta o grau de ignorância ao qual você parece voluntariamente se ater nessas questões, preciso que ouça com atenção o que tenho a dizer.”
Joe cruzou o olhar do pai, espantado com a profundidade do amor e da perda que viu neles. Pareceu-lhe claro que o pai agora se encontrava no fim de sua jornada de vida, e as palavras prestes a sair de sua boca eram um resumo dessa vida.
“Não vou tirar a vida de outra pessoa sem motivo.”
“Nem mesmo a de um assassino?”, indagou Joe.
“Nem mesmo a de um assassino.”
“E do homem responsável pela morte de uma mulher que eu amava.”
“Você me disse achar que ela está viva.”
“A questão não é essa”, retrucou Joe.
“Não, de fato não é”, concordou seu pai. “A questão é que eu não cometo assassinato. Para ninguém. E certamente não para esse demônio carcamano ao qual você jurou fidelidade.”
“Eu tenho que sobreviver aqui dentro”, disse Joe. “Aqui dentro.”
“E faça o que tiver de fazer.” Seu pai meneou a cabeça, com os olhos verdes mais brilhantes do que o normal. “Nunca irei julgá-lo por isso. Mas não vou cometer homicídio.”
“Nem mesmo por mim?”
“Principalmente não por você.”
“Então eu vou morrer aqui dentro, pai.”
“Sim, é possível.”
Joe baixou os olhos para a mesa e viu a madeira ficar turva junto com todo o resto. “Em breve.”
“E se isso acontecer”, a voz de seu pai era um sussurro, “eu vou morrer em seguida de tanta tristeza. Mas não vou cometer assassinato por você, filho. Matar por você? Sim. Mas assassinato? Jamais.”
Joe ergueu os olhos. Sentiu vergonha do tom choroso da própria voz ao pedir: “Por favor”.
Seu pai fez que não com a cabeça. Um gesto suave. Lento.
Bem, era isso. Não havia mais nada a dizer.
Joe fez menção de se levantar.
“Espere”, falou seu pai.
“O que foi?”
Seu pai olhou para o guarda postado junto à porta atrás de Joe. “Aquele guarda é vendido a Maso?”
“É. Por quê?”
Seu pai tirou o relógio do bolso do colete. Removeu a corrente do relógio.
“Não, pai. Não.”
Thomas tornou a pôr a corrente no bolso e fez o relógio deslizar por cima da mesa.
Joe tentou impedir que as lágrimas lhe escorressem dos olhos.
“Não posso fazer isso.”
“Pode, sim. Pode e vai fazer.” Seu pai o encarou através da grade como se estivesse ardendo em chamas, sem mais nenhum indício de exaustão no rosto ou tampouco desesperança. “Esse pedaço de metal vale uma fortuna. Mas é só o que é... um pedaço de metal. Compre sua vida com ele. Entendeu bem? Entregue isso para aquele demônio carcamano e compre sua vida.”
Joe fechou a mão por cima do relógio que ainda conservava o calor do bolso do pai, sentindo-o bater dentro de sua palma feito um coração.
Falou com Maso no refeitório. Não pretendia falar; não pensou que o assunto fosse surgir. Pensou que teria tempo. Durante as refeições, Joe sentava-se com integrantes do grupo de Pescatore, mas não com os da mesa principal, que comiam na companhia do próprio Maso. Ficava na mesa ao lado, com caras como Rico Gastemeyer, responsável pela contabilidade, e Larry Kahn, que fabricava gim no subsolo do alojamento dos guardas. Voltou do encontro com o pai e sentou-se em frente a Rico e Ernie Howland, um falsário de Saugus, mas eles foram obrigados a se deslocar no banco por Hippo Fasini, um dos soldados mais próximos de Maso, e Joe acabou sentado bem em frente ao próprio Maso, ladeado por Naldo Aliente de um lado e Hippo Fasini do outro.
“Então, quando vai ser?”, perguntou Maso.
“Como?”
Maso adquiriu uma expressão frustrada, como sempre acontecia quando lhe pediam para repetir o que tinha dito. “Joseph.”
Joe sentiu o peito e a garganta se contraírem em volta da resposta. “Ele não vai fazer.”
Naldo Aliente riu bem baixinho e balançou a cabeça.
“Ele disse não?”, indagou Maso.
Joe aquiesceu.
Maso olhou para Naldo, em seguida para Hippo Fasini. Ninguém disse nada por algum tempo. Joe baixou os olhos para a própria comida, consciente de que ela estava esfriando, consciente de que deveria comer, porque ali, se você pulasse uma refeição, enfraquecia muito depressa.
“Joseph, olhe para mim.”
Joe olhou para o outro lado da mesa. O rosto que o encarava de volta parecia bem-humorado e curioso, como o de um lobo que acaba de se deparar com uma ninhada de pintinhos recém-nascidos onde menos esperava.
“Por que não foi mais convincente com seu pai?”
“Eu tentei, sr. Pescatore”, respondeu Joe.
Maso olhou para seus homens, um depois do outro. “Ele tentou.”
Quando Naldo Aliente sorriu, expôs uma fileira de dentes que pareciam morcegos pendurados em uma caverna. “Não tentou o suficiente.”
“Olhe, ele me deu uma coisa”, disse Joe.
“Ele o quê...?” Maso levou uma das mãos até atrás da orelha.
“Ele me deu uma coisa para dar para o senhor.” Joe fez o relógio deslizar até o outro lado da mesa.
Maso reparou na tampa de ouro. Abriu o relógio e avaliou o mecanismo em si, depois o interior da tampa no qual as palavras Patek Philippe tinham sido gravadas com uma caligrafia delicada. Suas sobrancelhas se arquearam em sinal de aprovação.
“É o de 1902, dezoito quilates”, falou para Naldo. Então se virou para Joe. “Só foram fabricados dois mil relógios destes. Isto vale mais do que a minha casa. Como é que um policial conseguiu ter um?”
“Ele impediu um assalto a banco em 1908”, respondeu Joe, repetindo uma história que seu tio Eddie havia contado uma centena de vezes, embora o pai jamais comentasse a respeito. “Em Codman Square. Matou um dos assaltantes antes de o cara conseguir matar o gerente do banco.”
“E o gerente do banco deu este relógio ao seu pai?”
Joe fez que não com a cabeça. “Foi o presidente. O gerente era filho dele.”
“Então agora ele está me dando o relógio para salvar o próprio filho?”
Joe assentiu com a cabeça.
“Eu mesmo tenho três filhos. Você sabia?”
“Sim, ouvi falar”, respondeu Joe.
“De modo que sei alguma coisa sobre pais e como eles amam seus filhos.”
Maso se recostou na cadeira e passou algum tempo examinando o relógio. No fim das contas, deu um suspiro e o pôs no bolso. Estendeu a mão por cima da mesa e deu três tapinhas na mão de Joe.
“Torne a falar com seu pai. Diga a ele que eu agradeço o presente.” Maso se levantou da mesa. “E depois diga a ele para fazer a porra do que eu mandei.”
Os homens de Maso se levantaram todos juntos e saíram do refeitório.
Ao voltar para a cela após seu trabalho na oficina de fabricar correntes, Joe estava com calor, imundo, e três homens que nunca tinha visto esperavam por ele lá dentro. As camas continuavam faltando, mas os colchões haviam sido recolocados no chão. Os homens estavam sentados em cima desses colchões. O de Joe estava depois deles, encostado na parede sob a janela no alto, do lado mais afastado das grades. Dois dos sujeitos ele nunca tinha visto, teve certeza, mas o terceiro lhe pareceu conhecido. Tinha cerca de trinta anos e era baixo, mas com um rosto bem comprido e um queixo tão pontudo quanto o nariz e as pontas das orelhas. Joe passou em revista todos os nomes e rostos que ficara conhecendo naquela prisão e se deu conta de que estava diante de Basil Chigis, um dos integrantes do grupo de Emil Lawson, condenado à prisão perpétua assim como o chefe, sem chance de condicional. Diziam que ele havia comido os dedos de um menino que matara em um porão de Chelsea.
Joe encarou cada um dos homens por tempo suficiente para mostrar que não estava com medo, embora estivesse, e os três o encararam de volta, piscando os olhos de vez em quando, mas sem dizer nada. Assim, ele tampouco falou.
Em determinado momento, os homens pareceram se cansar de encará-lo e começaram a jogar cartas. As fichas eram feitas de osso. Ossos miúdos, como os de codorna, frango, ou pequenas aves de rapina. Os homens carregavam os ossos dentro de saquinhos de lona. Fervidos até ficarem totalmente brancos, eles estalavam ao serem reunidos pelo vencedor. Quando a luz diminuiu, os homens continuaram jogando, só abrindo a boca para dizer “sobe”, ou “pago para ver”, ou “estou fora”. De tanto em tanto, um deles relanceava os olhos para Joe, mas nunca por muito tempo, e em seguida voltava ao carteado.
Quando a escuridão se fez total, as luzes da galeria foram desligadas. Os três homens ainda tentaram terminar a mão, mas então a voz de Basil Chigis emergiu do breu — “Que se foda essa porra” — e as cartas farfalharam quando eles as recolheram do chão, e os ossos estalaram ao serem devolvidos aos saquinhos.
Ficaram os quatro sentados no escuro, respirando.
Nessa noite, o tempo foi algo que Joe não soube medir. Poderia ter passado meia hora sentado no escuro ou duas horas. Não fazia a menor ideia. Os três homens estavam sentados em semicírculo na sua frente, e ele podia sentir o cheiro de seu hálito e de seus corpos. O que estava à sua direita tinha um cheiro particularmente ruim, como um suor seco tão velho que havia se transformado em vinagre.
Conforme seus olhos se adaptaram à escuridão, pôde distingui-los, e o negro profundo se transformou em penumbra. Os três estavam sentados de pernas cruzadas, braços apoiados nos joelhos. Tinham os olhos pregados nele.
Em uma das fábricas atrás de Joe, um apito soou.
Mesmo que tivesse uma arma branca, duvidava que fosse conseguir apunhalar todos eles. Como nunca tinha apunhalado ninguém na vida, talvez não tivesse conseguido sequer alcançar um deles antes de o desarmarem e usarem sua arma contra ele.
Sabia que estavam esperando que ele falasse. Não sabia como sabia isso, mas sabia. Seria o sinal para que fizessem o que quer que pretendessem fazer com ele. Se ele falasse, estaria implorando. Mesmo que nunca pedisse nada nem suplicasse pela própria vida, falar com aqueles homens seria uma súplica em si. E eles ririam dele antes de o matarem.
Os olhos de Basil Chigis eram do mesmo azul de um rio pouco antes de congelar. No escuro, foi preciso algum tempo antes de a cor voltar, mas ela acabou voltando. Joe imaginou sentir a queimação daquela cor nos polegares quando os usasse para afundar os olhos de Basil.
Eles são homens, não demônios, falou para si mesmo. Um homem pode ser morto. Até mesmo três. Só é preciso agir.
Encarando as pálidas chamas azuis dos olhos de Basil Chigis, sentiu o poder que tinham sobre ele diminuir quanto mais lembrava a si mesmo que aqueles homens não tinham nenhum poder especial, não mais do que ele, pelo menos — mente, membros e força de vontade, tudo funcionando junto —, e que, portanto, era totalmente possível conseguir derrotá-los.
Mas e depois? Para onde ele iria? Sua cela tinha pouco mais de dois metros de comprimento por uns três e meio de largura.
Você tem de estar disposto a matá-los. Ataque agora. Antes que eles ataquem. Quando estiverem no chão, quebre a porra do pescoço deles.
Já quando estava imaginando isso, soube que seria impossível. Se tivesse apenas um adversário e agisse antes do esperado, talvez tivesse uma chance. Mas atacar três oponentes de uma posição sentada e ter sucesso?
O medo se espalhou por seus intestinos e subiu pela garganta. Apertou seu cérebro como se fosse a mão de alguém. Ele não conseguia parar de suar, e seus braços tremiam dentro das mangas.
O movimento veio da direita e da esquerda ao mesmo tempo. Quando ele sentiu, as pontas dos pedaços de metal já estavam encostadas em seus tímpanos. Não conseguiu vê-los, mas conseguiu ver o que Basil Chigis sacou de dentro das dobras do uniforme de presidiário. Era uma fina haste de metal, com metade do comprimento de um taco de sinuca, e Basil teve de encolher o cotovelo quando encostou sua ponta na base da garganta de Joe. Levou a mão às costas e tirou alguma coisa do cós da calça, e Joe desejou não ter visto aquilo, pois não queria acreditar que o objeto estivesse dentro da cela com eles. Basil Chigis ergueu um martelo bem alto atrás da parte traseira da longa haste de metal.
Ave Maria, pensou Joe, cheia de graça...
Esqueceu o resto. Tinha sido coroinha por seis anos, mas esqueceu.
A expressão nos olhos de Basil Chigis não havia mudado. Nenhuma intenção clara transparecia neles. O punho esquerdo segurava a haste de metal. O direito segurava o cabo do martelo. Bastava um gesto do braço para a ponta de metal perfurar a garganta de Joe e descer direto até o coração.
... o Senhor esteja convosco. Abençoai-nos, ó Senhor, e estas Vossas dádivas...
Não, não. Aquilo era o agradecimento que se rezava antes do jantar. A Ave-Maria era diferente. Dizia assim...
Ele não conseguiu se lembrar.
Pai nosso, que estais no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós...
A porta da cela se abriu e Emil Lawson entrou. Atravessou o círculo, ajoelhou-se à direita de Basil Chigis e inclinou a cabeça na direção de Joe.
“Me disseram que você era bonito”, disse ele. “Não mentiram.” Ele coçou a barba por fazer que lhe cobria as faces. “Consegue pensar em alguma coisa que eu não possa tirar de você agora?”
Minha alma, perguntou-se Joe? Só que naquele lugar, com aquela escuridão, eles provavelmente conseguiriam lhe tirar isso também.
Mas ele preferiria ir para o inferno a responder.
“Ou você responde à pergunta, ou arranco um de seus olhos e dou para o Basil comer”, disse Emil Lawson.
“Não”, respondeu Joe. “Não há nada que você não possa me tirar.”
Emil Lawson usou a palma da mão para limpar o chão antes de se sentar.
“Quer que a gente vá embora? Que a gente saia da sua cela hoje?”
“Sim, quero.”
“Pediram para você fazer algo para o sr. Pescatore, e você recusou.”
“Não fui eu quem recusei. A decisão final não era minha.”
A haste de metal encostada na garganta de Joe escorregou em seu suor e raspou a lateral de seu pescoço, levando consigo um pedaço de pele. Basil Chigis tornou a posicioná-la na base de sua garganta.
“O seu paizinho”, Emil Lawson assentiu. “O policial. O que ele tinha de fazer?”
Como assim?
“Você sabe o que ele tinha de fazer.”
“Finja que não sei e responda à pergunta.”
Joe inspirou fundo, devagar. “Brendan Loomis.”
“O que tem ele?”
“Está preso. Vai ser indiciado depois de amanhã.”
Emil Lawson entrelaçou as mãos atrás da cabeça e sorriu. “E o seu paizinho tinha de matá-lo, mas disse não.”
“É.”
“Não, ele disse sim.”
“Ele disse não.”
Emil Lawson fez que não com a cabeça. “Você vai dizer ao primeiro homem de Pescatore que vir pela frente que o seu pai mandou notícias por intermédio de um guarda. Ele vai cuidar de Brendan Loomis. E ele descobriu também onde Albert White tem passado as noites. E você tem o endereço para dar ao Velho Pescatore. Mas só pessoalmente. Entendeu até agora, menino bonito?”
Joe aquiesceu.
Emil Lawson entregou a Joe algo envolto em um oleado. Joe desembrulhou o pano — era outro pedaço de metal, quase tão fino quanto uma agulha. Em determinado momento, tinha sido uma chave de fenda daquelas que se usam para apertar os parafusos dos óculos. Só que esse tipo de chave de fenda não era afiado como aquela ali. A ponta parecia um espinho de rosa. Joe passou a palma da mão de leve por cima da ponta, e esta marcou sua mão.
Os homens afastaram os pedaços de metal de suas orelhas e garganta.
Emil chegou mais perto. “Quando se aproximar o suficiente para sussurrar o tal endereço no ouvido de Pescatore, enfie esse pedaço de metal bem fundo na porra do cérebro dele.” Ele deu de ombros. “Ou na garganta. Contanto que o mate.”
“Achei que você trabalhasse para ele”, disse Joe.
“Eu trabalho para mim.” Emil Lawson balançou a cabeça. “Fiz uns trabalhos para o grupo dele quando fui pago para isso. Agora outra pessoa está pagando.”
“Albert White”, disse Joe.
“É esse o meu chefe.” Emil Lawson se inclinou para a frente e deu um leve tapa na bochecha de Joe. “E agora é o seu também.”
* * *
No pequeno terreno atrás de sua casa na K Street, Thomas Coughlin cultivava um jardim. Ao longo dos anos, seus esforços para mantê-lo haviam tido graus diversos de sucesso e fracasso mas, nos dois anos desde o falecimento de Ellen, sobrava tempo; agora a produção do jardim era tão abundante que ele obtinha um pequeno lucro anual com a venda do excedente.
Anos antes, quando devia ter cinco ou seis anos, Joe decidira ajudar o pai na colheita do início de julho. Thomas estava dormindo para se recuperar de dois plantões seguidos e das várias saideiras consumidas depois na companhia de Eddie McKenna. Acordou com o barulho do filho falando no quintal dos fundos. Na época, Joe falava muito sozinho, ou talvez falasse com um amigo imaginário. Fosse como fosse, Thomas agora admitia para si mesmo que o filho precisava falar com alguém, pois com certeza ninguém falava muito com ele em casa. Thomas trabalhava demais, e Ellen, bem, àquela altura Ellen já havia firmado sua predileção pela Tintura número 23, elixir cura-tudo que lhe fora apresentado após um dos abortos espontâneos anteriores ao nascimento de Joe. Na época, a número 23 ainda não era o problema em que iria se transformar para Ellen, ou pelo menos era assim que Thomas gostava de pensar. No entanto, devia questionar essa avaliação mais do que gostava de admitir, pois soubera sem precisar perguntar que não havia ninguém olhando Joe nesse dia de manhã. Ficou deitado na cama, ouvindo o caçula tagarelar sozinho enquanto entrava e saía da varanda, e começou a se perguntar o que o estaria fazendo ir e vir tanto assim.
Levantou-se da cama, vestiu um roupão e encontrou os chinelos. Atravessou a cozinha (onde Ellen, sorridente, mas sem nenhuma expressão nos olhos, estava sentada diante de uma xícara de chá) e abriu a porta dos fundos com um empurrão.
Quando viu a varanda, o primeiro impulso que teve foi gritar. Literalmente. Ajoelhar-se no chão e vociferar contra os céus. Suas cenouras, pastinacas e tomates — todos ainda verdes — jaziam espalhados pelo chão da varanda, as raízes espalhadas feito cabelos em meio à terra e à madeira. Joe subia do quintal trazendo nas mãos mais uma leva da colheita — dessa vez as beterrabas. Havia se transformado em uma toupeira, e tinha a pele e os cabelos cobertos de terra. A única parte branca que restava nele eram os olhos e os dentes quando sorria, coisa que fez assim que viu Thomas.
“Oi, papai.”
Thomas não soube o que dizer.
“Estou ajudando você, papai.” Joe depositou uma beterraba aos pés de Thomas e voltou para pegar mais.
Com o trabalho de um ano inteiro arruinado e o lucro do outono evaporado, Thomas observou o filho marchar varanda abaixo para concluir sua destruição, e a gargalhada que subiu pelo centro de seu corpo e o fez estremecer não espantou a ninguém mais do que a ele próprio. Ele gargalhou tão alto que fez os esquilos fugirem dos galhos baixos da árvore mais próxima. Gargalhou tanto que pôde sentir a varanda tremer.
Agora, essa lembrança o fez sorrir.
Tinha dito ao filho recentemente que a vida era sorte. Mas a vida, como ele passara a perceber à medida que envelhecia, era também memória. A recordação de alguns momentos muitas vezes se mostrava mais rica do que os momentos em si.
Por hábito, estendeu a mão para pegar o relógio antes de se lembrar que não o tinha mais no bolso. Sentiria sua falta, ainda que a verdade a seu respeito fosse um pouco mais complexa do que a lenda que havia se criado ao seu redor. Era verdade que fora um presente de Barrett W. Stanford Pai. E Thomas, sem sombra de dúvida, havia arriscado a vida para salvar Barrett W. Stanford Filho, gerente do banco First Boston em Codman Square. Era verdade também que, no exercício de suas funções, havia disparado seu revólver de serviço uma única vez no cérebro de um homem chamado Maurice Dobson, vinte e seis anos, pondo fim à sua vida na hora.
Um segundo antes de puxar aquele gatilho, contudo, Thomas tinha visto algo que ninguém mais vira: a verdadeira natureza da intenção de Maurice Dobson. Falaria a respeito primeiro com o refém, Barrett W. Stanford Filho, depois contaria a mesma história a Eddie McKenna, depois ao comandante do seu plantão, e em seguida aos outros membros do Comitê de Tiro da corporação. Com a sua permissão, contaria a mesma história aos profissionais da imprensa e também a Barrett W. Stanford Pai, cuja gratidão foi tão avassaladora que ele deu a Thomas um relógio que ganhara de presente em Zurique de Joseph Emile Philippe em pessoa. Thomas tentou três vezes recusar um presente tão extravagante, mas Barrett W. Stanford Pai não quis nem ouvir falar no assunto.
Assim, ele carregava o relógio, não com o orgulho que tantos supunham, mas com um respeito íntimo e solene. Segundo a lenda, a intenção de Maurice Dobson era matar Barrett W. Stanford Filho. E quem poderia contestar essa interpretação, uma vez que ele encostara uma pistola na garganta de Barrett?
No entanto, a intenção que Thomas lera no olhar de Maurice Dobson naquele instante final — e foi rápido assim: um instante apenas — tinha sido a de se render. Estava a pouco mais de um metro de distância, com o revólver de serviço apontado e firme, dedo no gatilho, tão pronto para puxá-lo — e era preciso estar pronto, caso contrário, de que adiantava apontar a arma? — que, quando viu uma aceitação do próprio destino atravessar os olhos cinza-claros de Maurice Dobson, uma aceitação de que ele seria preso, de que estava tudo acabado, Thomas se sentiu preterido de forma injusta. Não soube dizer exatamente de imediato preterido em quê. Assim que puxou o gatilho, porém, entendeu.
A bala perfurou o olho esquerdo do infeliz Maurice Dobson, do finado Maurice Dobson, antes mesmo de ele cair no chão, e o calor por ela gerado queimou a pele de Barrett W. Stanford Filho, formando uma listra logo abaixo da têmpora. Quando a conclusão do objetivo da bala se conjugou com a conclusão de seu uso, Thomas entendeu o que lhe tinha sido negado, e por que havia tomado providências tão permanentes para retificar essa negação.
Quando dois homens apontavam armas um para o outro, um contrato era assinado aos olhos de Deus, e o único cumprimento aceitável desse contrato era um deles despachar o outro ao Seu encontro.
Ou pelo menos assim lhe parecera na época.
Ao longo dos anos, nem mesmo em seus porres mais memoráveis, nem mesmo com Eddie McKenna, que conhecia a maioria de seus segredos, Thomas nunca havia contado a ninguém que tipo de intenção de fato vira nos olhos de Maurice Dobson. E, embora não se orgulhasse de suas ações nesse dia, e por conseguinte tampouco experimentasse orgulho com a posse do relógio de bolso, jamais saía de casa sem ele, pois o relógio era testemunha da profunda responsabilidade que definia sua profissão — nós não aplicamos as leis dos homens; aplicamos a vontade da natureza. Deus não era nenhum rei das nuvens vestido com uma túnica branca e sujeito a um envolvimento sentimentalista nas questões humanas. Ele era, isso sim, o ferro que constituía seu núcleo, o fogo no interior das fornalhas escaldantes que ardiam por cem anos. Deus era a lei do ferro e a lei do fogo. Deus era a natureza, e a natureza era Deus. Um não podia existir sem o outro.
E você, Joseph, meu caçula, meu romântico desvirtuado, meu coração cheio de espinhos — agora é você quem tem de lembrar aos homens essas leis. Aos piores dos homens. Ou então morrer de fraqueza, de fragilidade moral, de falta de força de vontade.
Rezarei por você, pois a prece é tudo o que resta quando o poder se extingue. E eu não tenho mais poder. Não posso esticar o braço para dentro desses muros de granito. Não posso diminuir a velocidade do tempo nem fazê-lo parar. Caramba: no momento, nem sequer posso medir o tempo e saber que horas são.
Olhou para seu jardim lá fora, tão próximo da colheita. Rezou por Joe. Rezou por toda uma enxurrada de antepassados, a maioria desconhecida para ele, mas mesmo assim pôde vê-los com grande clareza: uma diáspora de almas vergadas marcadas pela bebida, pela fome e por pulsões sombrias. Pediu que o seu descanso eterno fosse em paz, e desejou um neto.
Joe encontrou Hippo Fasini no pátio e lhe disse que o pai havia mudado de ideia.
“Acontece”, comentou Hippo.
“Ele também me deu um endereço.”
“Ah, é?” O gordo recuou ligeiramente nos calcanhares, e seus olhos se perderam ao longe sem foco específico. “Endereço de quem?”
“De Albert White.”
“Albert White mora em Ashmont Hill.”
“Ouvi dizer que ele não tem passado muito tempo lá.”
“Então me dê o endereço.”
“Vá se foder.”
Hippo Fasini olhou para o chão, e todos os seus três papos encostaram nas listras do uniforme de presidiário. “Como é?”
“Diga a Maso que levarei o endereço para o muro hoje à noite.”
“Você não está em condições de negociar, garoto.”
Joe ficou olhando para ele até Hippo o encarar nos olhos. Então disse: “É claro que estou”. E saiu andando pelo pátio.
Uma hora antes do encontro com Pescatore, vomitou duas vezes dentro do balde de carvalho. Seus braços tremiam. Às vezes, o queixo e os lábios tremiam também. Seu sangue se transformou em um potente latejar de punhos contra as orelhas. Havia amarrado o pedaço de metal no pulso com um cadarço de bota feito de couro fornecido por Emil Lawson. Pouco antes de sair da cela, deveria tirá-lo de lá e colocá-lo entre as nádegas. Lawson havia sugerido enfaticamente que o enfiasse inteiro no cu, mas ele imaginou um dos capangas de Maso forçando-o a sentar por um motivo qualquer e decidiu que seriam as nádegas ou nada feito. Imaginou que faria a transferência faltando dez minutos para sair, de modo a se acostumar a andar com aquilo, mas um guarda apareceu em sua cela quarenta minutos mais cedo para lhe avisar que ele tinha visita.
O sol já estava se pondo. O horário de visita já terminara havia muito tempo.
“Quem é?”, perguntou ele enquanto descia a galeria atrás do guarda, só então lembrando que o pedaço de metal continuava preso ao seu pulso.
“Alguém que sabe molhar as mãos certas.”
“Sim, mas quem?”, Joe tentava acompanhar o ritmo do guarda, que andava depressa.
Este destrancou a porta da ala e fez Joe passar. “Disse que era seu irmão.”
Ele entrou no recinto tirando o chapéu. Ao passar pela porta, teve de se abaixar, pois era uma cabeça inteira mais alta do que a maioria dos outros homens. Os cabelos escuros exibiam algumas entradas e estavam levemente grisalhos acima das orelhas. Joe fez as contas e calculou que ele tivesse agora trinta e cinco anos. Continuava muito atraente, embora o rosto estivesse mais marcado do que na lembrança de Joe.
Usava um terno de três peças escuro, um pouco surrado, com lapelas de cantos arredondados. Um terno de gerente de armazém de cereais, ou então de um homem que passava muito tempo na estrada — vendedor itinerante ou sindicalista. Por baixo do terno Danny usava uma camisa branca, sem gravata.
Ele pôs o chapéu em cima da mesa e olhou através da grade que os separava.
“Caramba”, comentou, “você não tem mais treze anos, não é?”
Joe reparou como os olhos do irmão estavam vermelhos. “E você não tem mais vinte e cinco.”
Danny acendeu um cigarro, e o fósforo estremeceu entre seus dedos. Uma grande cicatriz franzida no centro cobria as costas de sua mão.
“Mas ainda tiraria o seu couro.”
Joe deu de ombros. “Pode ser que não. Estou aprendendo a brigar sujo.”
Danny reagiu à frase com um arquear de sobrancelhas e soltou uma nuvem de fumaça. “Ele foi embora, Joe.”
Joe sabia quem era “ele”. Uma parte de si já sabia da última vez em que pousara os olhos nele, ali naquele recinto. Mas outra parte não conseguia aceitar. Não quis aceitar.
“Ele quem?”
Seu irmão olhou para o teto por alguns instantes, depois tornou a olhar para ele. “O pai, Joe. O pai morreu.”
“Como?”
“Na minha opinião? Ataque cardíaco.”
“Você...?”
“Hem?”
“Você estava lá?”
Danny fez que não com a cabeça. “Cheguei meia hora depois. Ele ainda estava quente quando o encontrei.”
“Tem certeza de que não houve...”, começou Joe.
“De que não houve o quê?”
“Alguma ação criminosa?”
“Que porra estão fazendo com você aí dentro?”, Danny correu os olhos pelo recinto. “Não, Joe, foi um ataque cardíaco ou um derrame.”
“Como é que você sabe?”
Danny estreitou os olhos. “Ele estava sorrindo.”
“Como é?”
“Isso mesmo.” Danny deu uma risadinha. “Sabe aquele sorriso pequenininho que ele tinha? Como se estivesse escutando uma piada só sua, ou relembrando alguma coisa lá do passado, anterior a qualquer um de nós? Sabe qual era?”
“Sei, sim”, respondeu Joe, e ficou surpreso ao se ouvir repetir com um sussurro. “Sei, sim.”
“Mas ele estava sem o relógio.”
“Ahn?” A cabeça de Joe zumbia.
“O relógio”, repetiu Danny. “Não estava com ele. Nunca o vi andar sem...”
“Está comigo”, disse Joe. “Ele me deu. Para o caso de eu ter problemas. Aqui dentro, sabe?”
“Então está com você.”
“Está”, disse ele, e a mentira fez seu estômago queimar. Viu a mão de Maso se fechar em torno do relógio, e quis bater com a própria cabeça na parede até fazê-la penetrar o concreto.
“Ótimo”, disse Danny. “Isso é bom.”
“Não é, não”, discordou Joe. “É uma merda. Mas é essa a situação atual.”
Nenhum dos dois disse nada por alguns instantes. Um apito de fábrica soou ao longe, do outro lado dos muros.
“Sabe onde posso encontrar Con?”, indagou Danny.
Joe aquiesceu. “Ele está no Abbotsford.”
“O educandário para cegos? O que está fazendo lá?”
“Ele mora lá”, respondeu Joe. “Simplesmente acordou um belo dia e desistiu de tudo.”
“Bom, o tipo de lesão que ele sofreu é capaz de deixar qualquer um amargurado”, comentou Danny.
“Ele já era amargurado muito antes da lesão”, disse Joe.
Danny deu de ombros, concordando, e os dois passaram alguns instantes em silêncio.
“Onde ele estava quando você o encontrou?”, quis saber Joe.
“Onde você acha?” Danny largou o cigarro no chão e pisou em cima, soltando a fumaça pela boca por baixo do lábio superior curvado. “Nos fundos, sentado naquela cadeira da varanda, sabe? Olhando para aquele seu...” Danny abaixou a cabeça e sacudiu a mão no ar.
“Jardim”, completou Joe.
9
O VELHO SAI DE CENA
Mesmo na prisão, notícias do mundo exterior acabavam entrando. Nesse ano, todas as conversas sobre esportes diziam respeito aos Yankees de Nova York e seu Corredor de Assassinos formado por Combs, Koenig, Ruth, Gehrig, Meusel e Lazzeri. Ruth sozinho foi responsável pelo acachapante número de sessenta home runs, e os outros cinco rebatedores eram tão melhores do que os demais que a única dúvida a sanar era qual seria o nível de humilhação da derrota que eles iriam infligir aos Pirates no campeonato nacional de beisebol.
Joe, enciclopédia ambulante do esporte, teria adorado ver esse time jogar, pois sabia que um escrete assim talvez nunca mais tornasse a aparecer. No entanto, o tempo passado em Charlestown também fizera surgir dentro dele um desprezo reacionário por qualquer um capaz de batizar um grupo de jogadores de beisebol de Corredor de Assassinos.
É o Corredor de Assassinos que vocês querem?, pensou ele naquela noite, logo depois de escurecer. Estou andando por ele. A entrada da passarela que margeava o alto dos muros da prisão ficava do outro lado de uma porta no final do Bloco F, na galeria mais alta da Ala Norte. Era impossível chegar lá sem ser visto. Não era possível sequer alcançar a galeria sem passar por três portões distintos. Uma vez feito isso, ele se deparou com a galeria vazia. Mesmo em uma prisão superlotada como aquela, as doze celas dessa galeria estavam vazias e mais limpas do que uma igreja antes de um batizado.
Ao percorrer a galeria, Joe viu como a mantinham tão limpa — um detento encarregado passava pano no chão de cada cela. As janelas altas, idênticas às de sua própria cela, expunham um quadradinho de céu. Os quadrados tinham todos um azul tão escuro que quase chegava a ser preto, o que fez Joe se perguntar quanto os faxineiros conseguiam ver dentro das celas. Toda a luz estava no corredor. Talvez os guardas fossem trazer lamparinas dali a alguns minutos, quando o crepúsculo se transformasse em noite.
Mas não havia guarda nenhum. Apenas o que o conduzia pela galeria, o mesmo que o tinha conduzido na ida e na volta da sala de visitas, o que andava depressa demais, fato que um dia lhe causaria problemas uma vez que o objetivo era manter o detento sempre à sua frente. Se você andasse na frente do detento, ele poderia se dedicar a todo tipo de atividade execrável, e fora justamente assim que Joe conseguira transferir o pedaço de metal do pulso para as nádegas cinco minutos antes. Desejou ter treinado mais, porém. Tentar andar com as nádegas contraídas e parecer natural não era fácil.
Mas onde estariam os outros guardas? Nas noites em que Maso passeava pelo muro, havia poucos guardas lá em cima; nem todos tinham sido comprados por Pescatore, mas os que não se encaixavam nessa descrição jamais entregariam os outros. No entanto, Joe olhou em volta enquanto seguiam pela galeria e confirmou o que temera: não havia guarda nenhum lá em cima agora. Então deu uma olhada mais atenta nos detentos que estavam limpando as celas.
De fato, um Corredor de Assassinos.
O que o alertou foi a cabeça pontuda de Basil Chigis. Nem mesmo o gorro do uniforme da prisão conseguia disfarçá-la. Basil manejava um esfregão na sétima cela da galeria. O cara fedido que havia encostado o pedaço de metal na orelha direita de Joe passava um esfregão na oitava. O que empurrava um balde pela décima cela vazia era Dom Pokaski, que tinha queimado viva a própria família — mulher, duas filhas e sogra, sem contar os três gatos que trancara na despensa.
No final da galeria, Hippo e Naldo Aliente estavam em pé junto à porta da escada. Caso estivessem achando algo estranho naquela presença de detentos maior do que o normal e na presença de guardas menor do que nunca, estavam sendo muito eficientes em ocultar o fato. Na realidade, nada transparecia em seus rostos a não ser a arrogância altiva da classe dominante.
Rapazes, pensou Joe, talvez vocês devessem se preparar para mudanças.
“Mãos para cima”, disse Hippo a Joe. “Tenho que revistar você.”
Joe não hesitou, mas se arrependeu de não ter enfiado o pedaço de metal no cu. O cabo, por menor que fosse, estava encostado na base de sua coluna, mas Hippo poderia sentir uma protuberância anormal ali, levantar sua camisa e usar a arma contra ele. Joe manteve os braços levantados, surpreso com a calma que aparentava: sem tremores, sem suor, sem nenhum sinal externo de medo. Hippo subiu pelas pernas de Joe dando tapas com as mãozorras, depois apalpou as costelas e desceu uma das mãos pelo peito enquanto a outra descia pelas costas. A ponta de seu dedo roçou o cabo do pedaço de metal, e Joe pôde senti-lo se deslocar para trás. Contraiu-se ainda mais, consciente de que sua vida dependia de algo tão absurdo quanto a força com a qual era capaz de contrair a bunda.
Hippo segurou os ombros de Joe e o virou de frente para ele. “Abra a boca.”
Joe abriu.
“Mais.”
Joe obedeceu.
Hippo espiou dentro de sua boca. “Ele está limpo”, falou, e deu um passo para trás.
Quando Joe ia passar, Naldo Aliente se interpôs entre ele e a porta. Encarou o rosto de Joe como se conhecesse todas as mentiras por trás dele.
“A sua vida depende da vida desse velho”, disse ele. “Entendeu?”
Joe aquiesceu, consciente de que, fosse qual fosse o seu destino e o de Pescatore, Naldo estava vivendo seus últimos minutos de vida naquela hora. “Pode apostar que entendi.”
Naldo deu um passo de lado, Hippo abriu a porta e Joe entrou. Do outro lado não havia nada a não ser uma escada de ferro em espiral. Esta se erguia da caixa de concreto até um alçapão que fora deixado aberto para aquela noite. Joe removeu o pedaço de metal dos fundilhos da calça e o pôs no bolso da camisa listrada de tecido áspero. Quando chegou ao alto da escada, cerrou o punho da mão direita, levantou os dedos indicador e médio e passou a mão pelo buraco até o guarda na torre mais próxima poder vê-la. A luz da torre se moveu para a esquerda, para a direita, e de novo para a esquerda e para a direita em rápido zigue-zague — sinal de que a barra estava limpa. Joe subiu pela abertura, saiu para a passarela e olhou em volta até distinguir Maso junto ao muro pouco menos de quinze metros à frente, diante da torre de vigia central.
Andou até ele, sentindo o pedaço de metal balançar de leve contra o quadril. O único ponto cego da torre de vigia central era o espaço imediatamente abaixo dela. Contanto que Maso continuasse onde estava, os dois ficariam invisíveis. Quando Joe chegou lá, Maso estava fumando um dos cigarros franceses amargos que eram seus prediletos, daqueles amarelos, e olhava para o oeste através da névoa suja.
Virou os olhos na direção de Joe por alguns instantes e não disse nada, apenas inspirou e expirou a fumaça do cigarro com um chiado úmido.
Então disse: “Sinto muito pelo seu pai”.
Joe parou no meio o movimento de pegar ele próprio um cigarro. O céu noturno caiu sobre seu rosto feito uma capa, e o ar à sua volta se evaporou até a falta de oxigênio lhe apertar a cabeça.
Maso não tinha como saber. Mesmo com todo o seu poder, mesmo com todas as suas fontes. Danny tinha dito a Joe que recorrera a ninguém menos do que o comandante Michael Crowley, que havia galgado os escalões da polícia junto com seu pai desde as rondas a pé e cujo cargo Thomas esperava herdar antes daquela noite atrás do Statler. Thomas Coughlin fora tirado de casa pelos fundos, posto dentro de um carro de polícia sem identificação e levado para o necrotério municipal por uma entrada subterrânea.
Sinto muito pelo seu pai.
Não, pensou Joe. Não. Ele não pode saber. Impossível.
Joe encontrou o cigarro e o pôs entre os lábios. Maso riscou um fósforo no parapeito e o acendeu para ele, e os olhos do velho adquiriram aquela expressão generosa da qual eram capazes quando lhe convinha.
“Sente muito por quê?”, perguntou Joe.
Maso deu de ombros. “Nenhum homem jamais deveria ser obrigado a fazer algo que vai contra a sua natureza, Joseph, mesmo que seja para ajudar alguém que ele ama. O que pedimos a ele, o que pedimos a você não foi justo. Mas o que é justo nesta porra de mundo?”
As batidas do coração de Joe desceram de suas orelhas e da garganta.
Ele e Maso apoiaram os cotovelos no parapeito e ficaram fumando. As luzes das barcas que singravam o Mystic chispavam pelo cinza espesso e distante feito estrelas exiladas. Serpentes brancas de fumaça das fundições davam piruetas na sua direção. O ar recendia a calor retido e a uma chuva que se recusava a cair.
“Nunca mais vou pedir nada tão difícil para você ou para o seu pai, Joseph.” Maso aquiesceu com firmeza. “Prometo isso.”
Joe o encarou nos olhos. “É claro que vai, Maso.”
“Sr. Pescatore, Joseph.”
“Mil perdões”, disse Joe, e seu cigarro lhe escapou dos dedos. Ele se curvou na direção da passarela para pegá-lo.
Em vez disso, envolveu os tornozelos de Maso com os braços e puxou para cima com força.
“Não grite.” Ele se levantou, e a cabeça do velho adentrou o espaço além da borda do parapeito. “Se gritar, eu largo você.”
A respiração do velho estava acelerada. Seus pés chutaram as costelas de Joe.
“E eu também pararia de me debater, ou não vou conseguir segurar.”
Foi preciso alguns instantes, mas os pés de Maso pararam de se mexer.
“Está armado? Não minta.”
A voz veio flutuando da borda da passarela na sua direção. “Estou.”
“Quantas armas?”
“Uma só.”
Joe soltou seus tornozelos.
Maso agitou os braços como se, naquele instante, fosse aprender a voar. Seu peito deslizou para a frente, e a escuridão engoliu sua cabeça e tronco. Ele provavelmente teria gritado, mas Joe enfiou a mão no cós do uniforme de presidiário de Maso, calçou um calcanhar na parede do parapeito e se inclinou para trás.
Maso emitiu uma série de estranhos ruídos arfantes, muito agudos, como um recém-nascido abandonado em um campo.
“Quantas armas?”, repetiu Joe.
Um minuto se passou sem nada a não ser aquele arfar, e então: “Duas”.
“Onde estão?”
“Navalha no tornozelo, pregos no bolso.”
Pregos? Joe tinha de ver isso. Apalpou os bolsos de Maso com a mão livre e encontrou uma protuberância esquisita. Pôs a mão lá dentro com cuidado e retirou algo que, à primeira vista, poderia ter confundido com um pente. Eram quatro pregos curtos soldados a uma barra que, por sua vez, estava soldada em quatro anéis deformados.
“É para encaixar no punho?”, indagou Joe.
“É.”
“Que horror.”
Pôs o objeto sobre o parapeito e em seguida encontrou a navalha dentro da meia de Maso, uma Wilkinson com cabo de madrepérola. Depositou-a junto ao soco-inglês feito de pregos.
“Já está ficando tonto?”
“Estou”, foi a resposta abafada.
“É natural.” Joe ajustou a pegada no cós da calça. “Estamos de acordo, Maso, que se eu abrir os dedos você já era?”
“Sim.”
“Abriram um buraco na minha perna com uma porra de um descascador de batatas por sua causa.”
“Eu... eu... você.”
“O quê? Fale direito.”
A voz saiu com um sibilo: “Eu salvei você”.
“Para poder controlar meu pai.” Joe pressionou o cotovelo entre as escápulas de Maso. O velho soltou um ganido.
“O que você quer?” A voz de Maso começava a ratear devido à falta de oxigênio.
“Já ouviu falar em Emma Gould?”
“Não.”
“Albert White a matou.”
“Nunca ouvi falar.”
Joe o puxou de volta e em seguida o virou de costas. Deu um passo para trás e deixou o velho recuperar o fôlego.
Estendeu a mão e estalou os dedos. “Me dê o relógio.”
Maso não hesitou. Tirou o relógio do bolso da calça e o entregou. Joe o segurou com força dentro do punho fechado, sentindo o tique-taque se mover através da palma e para dentro de seu sangue.
“Meu pai morreu hoje”, falou, consciente de que não devia estar parecendo muito racional ao passar do pai para Emma e de novo para o pai. Mas não ligou para isso. Precisava articular em palavras algo para o qual não havia palavras.
Os olhos de Maso se moveram rapidamente por um instante, e ele voltou a esfregar a garganta.
Joe aquiesceu. “Ataque do coração. Eu me considero culpado.” Deu um tapa no sapato de Maso, e isso fez o velho se sobressaltar o suficiente para levar as palmas das duas mãos com força ao parapeito. Joe sorriu. “Mas também considero você culpado. Considero você culpado para caralho.”
“Então me mate”, disse Maso, mas não havia muita força em sua voz. Ele olhou por cima do ombro, depois de volta para Joe.
“Foi isso que me mandaram fazer.”
“Quem?”
“Lawson”, respondeu Joe. “Ele está com um exército inteiro lá fora esperando por você... Basil Chigis, Pokaski, todas aquelas aberrações comparsas de Emil. Sabe os seus caras? Naldo e Hippo?” Joe balançou a cabeça. “Com certeza a esta altura já estão de papo para o ar. Tem um batalhão de caça inteiro esperando você no pé daquela escada se eu fracassar.”
Um pouco do antigo ar de desafio retornou à expressão de Maso. “E acha que vão deixar você vivo?”
Joe tinha pensado bastante no assunto. “Provavelmente. Essa guerra de vocês já pôs uma porção de gente a sete palmos. Não sobraram muitos de nós capazes de soletrar a palavra chiclete e mascar ao mesmo tempo. Além do mais, eu conheço Albert. Nós já tivemos algo em comum. Acho que essa foi a oferenda de paz dele... mate Maso e volte ao rebanho.”
“Então por que você não matou?”
“Porque eu não quero matar você.”
“Não?”
Joe fez que não com a cabeça. “Eu quero destruir Albert.”
“Quer matá-lo?”
“Isso eu não sei”, respondeu Joe. “Mas destruí-lo com certeza.”
Maso levou a mão ao bolso para pegar os cigarros franceses. Tirou um e acendeu, ainda recuperando o fôlego. Depois de algum tempo, encarou Joe nos olhos e aquiesceu. “Quanto a essa aspiração, você tem a minha bênção.”
“Eu não preciso da sua bênção”, retrucou Joe.
“Não vou tentar convencê-lo a não fazer isso, mas nunca vi muito lucro em se vingar”, disse Maso.
“Não se trata de lucro.”
“ Tudo na vida de um homem tem relação com lucro. Ou lucro ou sucessão.” Maso ergueu os olhos para o céu, depois tornou a baixá-los. “Então, como vamos descer daqui vivos?”
“Algum dos guardas da torre é inteiramente agradecido a você?”
“Aquele ali, logo acima de nós”, respondeu Maso. “Os outros dois são fiéis ao dinheiro.”
“O seu guarda poderia entrar em contato com outros guardas lá dentro e mandá-los cercar o bando de Lawson e atacá-lo agora mesmo?”
Maso fez que não com a cabeça. “Basta um guarda chegar perto de Lawson para a notícia se espalhar até os detentos lá embaixo e eles invadirem esta passarela.”
“Que merda.” Joe expirou lenta e demoradamente, olhando em volta. “Vamos fazer do jeito sujo e pronto.”
Enquanto Maso conversava com o guarda da torre, Joe margeou o muro de volta ao alçapão. Se fosse morrer, provavelmente seria agora. Não conseguia se livrar da desconfiança de que cada passo seu estava prestes a ser interrompido por uma bala que lhe vararia o cérebro ou explodiria em mil pedaços sua coluna vertebral.
Olhou para trás na direção de onde viera. Maso já tinha saído da passarela, de modo que não havia nada para ver a não ser a escuridão cada vez mais densa e as torres de vigia. Nem estrelas nem a lua, apenas um breu cerrado.
Abriu o alçapão e chamou lá para baixo. “Ele já era.”
“Você está ferido?”, chamou de volta Basil Chigis.
“Não. Mas vou precisar de roupas limpas.”
Alguém deu uma risadinha no escuro.
“Então desça.”
“Subam vocês. Temos que tirar o corpo dele daqui.”
“Nós podemos...”
“O sinal é com a mão direita, indicador e médio erguidos juntos. Se alguém não tiver um desses dedos, não mande subir.”
Ele se afastou do alçapão antes de qualquer um poder contestar.
Cerca de um minuto se passou antes de ouvir o primeiro homem subir. A mão se estendeu para fora do buraco, com dois dedos erguidos conforme as instruções de Joe. A luz da torre traçou um arco por cima da mão e em seguida se moveu de volta na outra direção. “Barra limpa”, disse Joe.
Foi Pokaski, o que havia queimado a família inteira, quem pôs a cabeça para fora com cuidado e olhou em volta.
“Ande logo”, disse Joe. “E mande os outros subirem. Vai ser preciso mais dois para arrastá-lo. Ele é um peso morto, e minhas costelas estão machucadas.”
Pokaski sorriu. “Pensei que você tivesse dito que não estava ferido.”
“Não mortalmente”, respondeu Joe. “Vamos.”
Pokaski tornou a se inclinar para dentro do buraco. “Mais dois caras.”
Basil Chigis subiu atrás de Pokaski, e depois dele veio um sujeito baixinho com lábio leporino. Joe recordou alguém apontando para ele certa vez no refeitório — chamava-se Eldon Douglas —, mas não conseguiu lembrar qual era o seu crime.
“Onde está o corpo?”, indagou Basil Chigis.
Joe apontou.
“Bom, vamos...”
A luz atingiu Basil Chigis um segundo antes de a bala entrar pela parte de trás da sua cabeça e sair pelo meio do rosto, arrancando fora o nariz. O último ato de Pokaski neste mundo foi piscar os olhos. Então uma porta se abriu em sua garganta, e a porta se escancarou enquanto uma cascata de vermelho jorrava lá de dentro e Pokaski caía de costas, dando trancos com as pernas. Eldon Douglas deu um salto em direção ao alçapão da escada, mas a terceira bala do guarda da torre esmagou-lhe o crânio como teria feito um martelo. Ele caiu à direita da porta e ficou deitado ali, sem o topo da cabeça.
Joe olhou em direção à luz, com os três homens mortos espalhados à sua volta. Lá embaixo, homens gritaram e saíram correndo. Desejou poder se juntar a eles. Fora um plano ingênuo. Pôde sentir os visores das armas no peito enquanto as luzes o cegavam. As balas seriam os rebentos ferozes sobre as quais seu pai o havia alertado; ele não só estava prestes a encontrar o Criador, mas também estava prestes a conhecer os próprios filhos. O único consolo em que podia pensar era que seria uma morte rápida. Dali a quinze minutos, estaria tomando uma cerveja com seu pai e seu tio Eddie.
A luz se apagou.
Alguma coisa macia o acertou no rosto e caiu sobre seu ombro. Ele piscou para a escuridão — era uma toalhinha.
“Limpe o rosto”, disse Maso. “Você está imundo.”
Quando ele terminou, seus olhos haviam se acostumado o suficiente à pouca luz para conseguirem distinguir Maso em pé a poucos metros de distância, fumando um de seus cigarros franceses.
“Achou que eu fosse matar você?”
“Passou pela minha cabeça.”
Maso balançou a sua. “Eu sou um carcamano pé-rapado de Endicott Street. Quando vou a um restaurante chique, até hoje não sei que garfo usar. Então eu posso até não ter classe nem educação, mas nunca traio ninguém pelas costas. Eu ataco de frente. Como você fez comigo.”
Joe assentiu e olhou para os três cadáveres aos seus pés. “E eles? Eu diria que nós os traímos pelas costas direitinho.”
“Eles que se fodam”, retrucou Maso. “Eles mereciam.” Passando por cima do corpo de Pokaski, ele caminhou até Joe. “Você vai sair daqui antes do que imagina. Está preparado para ganhar um dinheiro lá fora?”
“Claro.”
“Sua obrigação vai ser sempre primeiro com a família Pescatore, e só depois com você próprio. Consegue respeitar isso?”
Joe fitou os olhos do velho e teve certeza de que juntos iriam ganhar muito dinheiro, e de que jamais poderia confiar nele.
“Consigo.”
Maso estendeu a mão. “Então estamos acertados.”
Joe limpou o sangue da mão e apertou a de Maso. “Estamos acertados.”
“Sr. Pescatore”, chamou alguém lá de baixo.
“Já estou indo.” Maso andou até o alçapão e Joe foi atrás. “Venha, Joseph.”
“Me chame de Joe. Só meu pai me chamava de Joseph.”
“Certo, então.” Quando estava descendo a escada em espiral no escuro, Maso tornou a falar. “Engraçado essa coisa de pais e filhos... você pode progredir na vida e construir um império. Tornar-se rei. Imperador dos Estados Unidos. Tornar-se Deus. Mas sempre fará tudo à sombra dele. Não há escapatória para isso.”
Joe desceu atrás dele pela escada escura. “Eu não quero muito escapar.”
10
VISITAS
Após um funeral matutino na igreja de Gate of Heaven, no sul de Boston, Thomas Coughlin foi sepultado para o descanso eterno no cemitério de Cedar Grove, em Dorchester. Joe não teve autorização para comparecer ao enterro, mas leu a respeito em um exemplar do Traveler que um dos guardas vendidos a Maso lhe passou naquela noite.
Dois ex-prefeitos, Honey Fitz e Andrew Peters, estiveram presentes na cerimônia, assim como o prefeito em exercício James Michael Curley. Compareceram também dois ex-governadores, cinco ex-promotores distritais e dois promotores-gerais.
Policiais vieram de toda parte — agentes municipais e estaduais, aposentados e da ativa, de lugares tão ao sul quanto Delaware e tão ao norte quanto Bangor, no Maine. De todas as patentes, de todas as especialidades. Na foto que ilustrava a matéria, o rio Neponset serpenteava ao longo do limite mais afastado do cemitério, mas Joe mal conseguia vê-lo porque os chapéus e uniformes azuis dominavam a paisagem.
Aquilo era poder, pensou. Aquilo era um legado.
E pensou também, quase ao mesmo tempo: e daí?
Então o funeral de seu pai tinha levado mil homens a um cemitério às margens do Neponset. E algum dia, decerto, cadetes estudariam no prédio Thomas X. Coughlin da Academia de Polícia de Boston, ou passageiros atravessariam sacolejando a ponte Coughlin a caminho do trabalho de manhã.
Maravilha.
Ainda assim, morte era morte. Para sempre era para sempre. Não havia edifício, legado ou ponte batizada em sua homenagem que pudesse mudar isso.
Você só tinha uma única vida garantida, de modo que era melhor vivê-la.
Pousou o jornal ao seu lado na cama. Era um colchão novo, e estava à sua espera na cela depois do trabalho na véspera junto com uma mesinha lateral, uma cadeira e uma lamparina de mesa a querosene. Ele encontrou os fósforos na gaveta da mesinha ao lado de um pente novo.
Apagou a lamparina com um sopro e ficou sentado no escuro, fumando. Escutou o barulho das fábricas e das barcas no rio assinalando umas às outras sua presença nas passagens estreitas. Abriu a tampa do relógio do pai, tornou a fechá-la, em seguida abriu outra vez. Abre-fecha, abre-fecha, abre-fecha, enquanto o cheiro químico das fábricas subia e entrava pela janela alta da cela.
Seu pai estava morto. Ele não era mais filho de ninguém.
Era um homem sem história e sem perspectivas. Uma página em branco, sem vínculo com ninguém.
Sentiu-se um peregrino que houvesse deixado para trás a costa de uma terra natal que jamais tornaria a ver, atravessado um mar negro sob um céu igualmente negro, e aportado no novo mundo que aguardava, ainda sem forma definida, como sempre estivera aguardando.
Por ele.
Para que desse ao país um nome, para que o transformasse à sua imagem de modo que esse país pudesse abraçar seus valores e exportá-los mundo afora.
Fechou o relógio, fechou a mão em torno do relógio e fechou os olhos até vislumbrar a costa desse país novo, até ver o céu negro lá em cima dar lugar a uma distante coleção de estrelas brancas que derramaram seu brilho sobre ele e sobre o pequeno trecho de água que restava entre ele e seu país.
Sentirei sua falta. Chorarei sua morte. Mas agora estou renascido. E realmente livre.
Dois dias depois do funeral, Danny fez sua última visita.
Inclinou-se para junto da grade e perguntou: “Como tem passado, caçulinha?”.
“Estou encontrando meu caminho”, respondeu Joe. “E você?”
“Ah, sabe como é”, disse Danny.
“Não sei, não”, retrucou Joe. “Eu não sei de nada. Você foi embora para Tulsa com Nora e Luther há oito anos, e desde então tudo o que escutei foram boatos.”
Danny admitiu o fato com um meneio de cabeça. Pescou os cigarros no bolso, acendeu um, e demorou antes de responder. “Eu e Luther abrimos um negócio juntos lá em Tulsa. Construção civil. Construíamos casas nos bairros negros. Estávamos indo bem. Nada extraordinário, mas estávamos indo bem. Eu também era vice-xerife. Dá para acreditar?
Joe sorriu. “Usava um chapéu de caubói?”
“Meu filho, eu usava revólveres de seis tiros”, respondeu Danny com um sotaque forçado. “Um de cada lado do quadril.”
Joe riu. “E aquelas gravatas fininhas de laço?”
Danny também riu. “Naturalmente. E botas.”
“Com esporas?”
Danny estreitou os olhos e fez que não com a cabeça. “É preciso saber impor limites.”
Joe ainda estava rindo um pouco quando perguntou: “E o que aconteceu? Ouvimos falar alguma coisa sobre um motim, foi isso mesmo?”.
A luz dentro de Danny se apagou. “Tacaram fogo em tudo.”
“Em Tulsa inteira?”
“É, na parte negra de Tulsa. Luther morava em um bairro chamado Greenwood. Certa noite, na cadeia, uns brancos apareceram para linchar um negro porque ele tinha posto a mão na xoxota de uma branca dentro de um elevador. A verdade, porém, era que a moça vinha saindo com o rapaz em segredo havia muitos meses. Ele terminou tudo e ela não gostou, então prestou a queixa fajuta e tivemos de prendê-lo. Estávamos prestes a soltar o garoto por falta de provas quando todos os homens brancos respeitáveis de Tulsa apareceram com suas cordas na mão. Aí um bando de negros também apareceu, entre os quais Luther. E os negros, bom, eles estavam armados. Ninguém esperava por isso. Então a turma do linchamento foi embora. Naquela noite.” Danny apagou o cigarro com o calcanhar. “Na manhã seguinte, os brancos atravessaram os trilhos do trem e foram mostrar aos rapazes negros o que acontece quando se aponta uma arma para um deles.”
“Então o motim foi isso.”
Danny fez que não com a cabeça. “Motim coisíssima nenhuma. Foi um massacre. Eles balearam ou tacaram fogo em todos os negros que viram: crianças, mulheres, velhos, não fazia a menor diferença. Os atiradores eram todos pilares da comunidade, veja bem, frequentadores da igreja, rotarianos. No final, os putos passaram voando naqueles aviõezinhos usados para jogar pesticida nas lavouras, lançando granadas e bombas de fabricação caseira em cima dos prédios. Os negros começaram a sair correndo dos prédios em chamas, e os brancos tinham montado ninhos de metralhadoras. Abateram todo mundo em plena rua, nada mais, nada menos. Centenas de pessoas morreram. Centenas, simplesmente caídas pelas ruas. Pareciam meras trouxas de roupa manchadas de vermelho durante a lavagem.” Danny uniu as mãos atrás da cabeça e soprou o ar por entre os lábios. “Depois percorri a cidade para recolher os corpos em carretas, sabe? E não conseguia parar de pensar: onde está meu país? Onde foi parar o meu país?”
Nenhum dos dois disse nada por um bom tempo, até Joe perguntar: “E Luther?”.
Danny ergueu uma das mãos. “Ele sobreviveu. Da última vez que o vi, estava indo para Chicago com a mulher e o filho. Sabe o que é mais estranho nesse tipo de... de acontecimento, Joe?”, perguntou ele. “É que você sobrevive, e é como se carregasse uma espécie de vergonha. Não consigo nem explicar direito. É simplesmente uma vergonha, grande como o seu corpo inteiro. E sabe todas as outras pessoas que sobreviveram? Elas também carregam a mesma vergonha. E ninguém consegue se encarar nos olhos. Todo mundo está impregnado com o fedor do que aconteceu e tentando entender como passar o resto da vida com esse cheiro. Então é claro que você não quer que mais ninguém com o mesmo cheiro chegue perto para impregnar você mais ainda.”
“E Nora?”, perguntou Joe.
Danny concordou. “Ainda estamos juntos.”
“Têm filhos?”
Danny fez que não com a cabeça. “Você acha que eu deixaria você circular por aí sem saber que era tio?”
“Só vi você uma vez em oito anos, Dan. Sei lá o que você faria.”
Danny concordou, e Joe viu algo de que até então só havia desconfiado — alguma coisa em seu irmão, bem no âmago dele, estava quebrada.
No entanto, bem na hora em que ele pensou isso, um pedaço do antigo Danny voltou com um sorrisinho maroto. “Eu e Nora passamos os últimos anos em Nova York.”
“Fazendo o quê?”
“Espetáculos.”
“Espetáculos?”
“Filmes. É como dizem por lá... espetáculos. Quer dizer, é meio confuso, porque várias pessoas também chamam peças de teatro de espetáculos. Mas enfim, Joe, filmes. Cinema. Espetáculos.”
“Você trabalha no cinema?”
Danny aquiesceu, agora animado. “Foi Nora quem começou. Ela arrumou trabalho em uma empresa chamada Silver Frame, você conhece? São judeus, mas boa gente. Ela administrava toda a contabilidade da empresa, e aí eles lhe pediram para fazer uns servicinhos por fora, de publicidade e até de figurino. A empresa na época era assim, todo mundo fazia de tudo, os diretores preparavam café e os câmeras saíam para passear com o cachorro da atriz principal.”
“No cinema?”, repetiu Joe.
Danny riu. “Mas espere, vai ficar melhor ainda. Os chefes dela me conheceram e um deles, Herm Silver, um cara sensacional, cheio de recursos, me perguntou... está preparado? Me perguntou se eu fazia cenas de dublê.”
“Que diabo são cenas de dublê?”, Joe acendeu um cigarro.
“Sabe quando você vê um ator caindo do cavalo? Não é ele. É um dublê. Um profissional. Sempre que um ator escorrega em uma casca de banana, tropeça no meio-fio ou sai correndo por uma rua? Da próxima vez, olhe com atenção para a tela, porque não é ele. Sou eu, ou alguém como eu.”
“Espere um pouco, quantos filmes você já fez?”, quis saber Joe.
Danny passou alguns instantes pensando. “Acho que uns setenta e cinco.”
“Setenta e cinco?”, Joe tirou o cigarro da boca.
“Quer dizer, vários deles foram curtas. Curtas são...”
“Ora, eu sei o que são curtas.”
“Mas não sabia o que eram cenas de dublê, sabia?”
Joe ergueu o dedo médio para ele.
“Então, sim, eu fiz um montão de filmes. Cheguei até a escrever alguns dos curtas.”
A boca de Joe se escancarou. “Você escreveu...?”
Danny assentiu. “Coisas pequenas. Meninos do Lower East Side tentam dar banho no cachorro de uma senhora rica, perdem o cachorro, a dona liga para a polícia, seguem-se várias peripécias, esse tipo de coisa.”
Joe deixou o cigarro cair no chão antes de este lhe queimar os dedos. “Quantos você já escreveu?”
“Até agora cinco, mas Herm acha que eu levo jeito e quer que eu tente escrever um longa em breve, que vire roteirista.”
“O que é roteirista?”
“O cara que escreve os filmes, seu gênio”, respondeu Danny, mostrando por sua vez o dedo do meio para Joe.
“Então espere, e onde Nora entra nessa história?”
“Ela está na Califórnia.”
“Pensei que vocês morassem em Nova York.”
“Estávamos morando. Mas a Silver Frame fez uns dois filmes bem baratos recentemente que viraram sucessos. Enquanto isso, a porra da Edison está processando todo mundo em Nova York por causa das patentes das câmeras, mas na Califórnia essas patentes não querem dizer merda nenhuma. Além do mais, o clima lá é bom trezentos e sessenta dias por ano, então está todo mundo indo para lá. Os irmãos Silver calcularam que é a hora certa. Nora se mudou na semana passada, porque ela agora é chefe de produção... sério, ela está subindo que nem uma flecha. E eles agendaram cenas de dublê para mim em um filme chamado Os justiceiros do Pecos daqui a três semanas. Só voltei para avisar ao pai que estava indo para o Oeste outra vez, dizer a ele para talvez ir nos visitar quando estivesse aposentado. Não sabia quando tornaria a vê-lo. Caramba, não sabia quando tornaria a ver você.”
“Estou feliz por você”, disse Joe, ainda balançando a cabeça por causa do absurdo da situação. A vida de Danny era uma vida americana de almanaque: boxeador, policial, sindicalista, empresário, vice-xerife, dublê, escritor em ascensão.
“Venha”, disse seu irmão.
“O quê?”
“Quando sair daqui. Venha ficar conosco. Estou falando sério. Ganhe dinheiro para cair do cavalo e se jogar por vidraças de açúcar feitas para parecer vidro. Passe o resto do tempo deitado debaixo do sol, conheça uma aspirante a atriz à beira da piscina.”
Por alguns instantes, Joe conseguiu visualizar o que Danny dizia: uma outra vida, um sonho de água azul, mulheres de pele cor de mel, palmeiras.
“É só uma viagem rápida de trem de duas semanas, caçulinha.”
Joe riu mais um pouco ao imaginar aquilo.
“É um bom trabalho”, disse Danny. “Se algum dia quiser ir para lá trabalhar comigo, posso treinar você.”
Ainda sorrindo, Joe fez que não com a cabeça.
“É um trabalho honesto”, disse Danny.
“Eu sei”, disse Joe.
“Você poderia parar de viver uma vida em que tem de passar o tempo inteiro olhando por cima do próprio ombro.”
“Não é isso.”
“O que é, então?” Danny parecia genuinamente curioso.
“A noite. Ela tem seu próprio conjunto de regras.”
“O dia também tem regras.”
“Ah, eu sei”, disse Joe. “Só que elas não me agradam.”
Os dois passaram muito tempo se encarando através da grade.
“Não entendo”, disse Danny baixinho.
“Eu sei que não”, disse Joe. “Você é um cara que compra esse papo de um mundo dividido entre mocinhos e bandidos. Um agiota quebra a perna de alguém por não pagar uma dívida, um banqueiro expulsa alguém de casa pelo mesmo motivo, e você acha que existe uma diferença, como se o banqueiro estivesse apenas fazendo o seu trabalho, mas o agiota fosse um criminoso. Eu gosto do agiota porque ele não finge ser nada além do que é, e acho que o banqueiro deveria estar sentado aqui onde estou agora. Não quero viver uma vida em que vá pagar as porras dos meus impostos, buscar limonada para o patrão no piquenique da empresa e comprar seguro de vida. Uma vida em que vá ficar velho e gordo para poder virar sócio de clube só para cavalheiros em Back Bay, fumar charutos com um bando de babacas em alguma salinha dos fundos, falar sobre minhas partidas de squash e as notas dos meus filhos na escola. Em que vá morrer sentado em frente à minha mesa de trabalho, e antes mesmo de a terra ser despejada sobre o caixão eles já terão tirado meu nome da porta da sala.”
“Mas assim é a vida”, disse Danny.
“Assim é um tipo de vida. Você quer jogar segundo as regras deles? Vá em frente. Mas eu acho as regras deles uma babaquice. Acho que as únicas regras que existem são as que um homem cria para si mesmo.”
Novamente os dois ficaram se observando através da grade. Durante toda a sua infância, Danny havia sido o herói de Joe. Caramba, ele havia sido o seu deus. E agora deus não passava de um homem que ganhava a vida caindo de cavalos, que ganhava a vida fingindo levar tiros.
“Nossa, como você cresceu”, comentou Danny baixinho.
“Pois é”, retrucou Joe.
Danny pôs os cigarros no bolso e o chapéu na cabeça.
“Uma pena”, falou.
Dentro do presídio, a guerra White-Pescatore foi praticamente ganha na noite em que três soldados de White foram baleados no telhado durante uma “tentativa de fuga”.
Mesmo assim, as escaramuças continuaram e as rixas ficaram mais intensas. Ao longo dos seis meses seguintes, Joe aprendeu que as guerras na verdade não acabam nunca. Mesmo enquanto ele, Maso e o resto da gangue Pescatore no presídio consolidavam seu poder, era impossível dizer se este ou aquele guarda fora pago para agir contra eles ou se este ou aquele detento merecia confiança.
Micky Baer foi atacado no pátio com um pedaço de metal por um homem que, conforme se descobriu depois, era casado com a irmã do finado Dom Pokaski. Micky sobreviveu, mas passaria o resto da vida com problemas para mijar. Ficaram sabendo lá de fora que Guard Colvin estava apostando todas as suas fichas em Syd Mayo, cupincha de White. E Colvin estava perdendo.
Então Holly Peletos, assassino a soldo de White, apareceu para cumprir cinco anos por homicídio involuntário e começou a soltar a língua no refeitório falando sobre troca da guarda. Assim, tiveram de jogá-lo da galeria.
Havia semanas em que Joe passava duas ou três noites sem dormir de tanto medo, ou porque ficava tentando prever todas as possibilidades, ou porque seu coração não parava de bater dentro do peito como se estivesse tentando se libertar.
Você dizia a si mesmo que não seria atingido.
Dizia a si mesmo que aquele lugar não iria devorar sua alma.
Mas o que dizia a si mesmo acima de tudo era: eu vou viver.
Vou sair deste lugar.
Custe o que custar.
Maso foi solto em uma manhã de primavera de 1928.
“A próxima vez que você vai me ver será no dia de visita”, disse ele a Joe. “Vou estar do outro lado daquela grade.”
Joe apertou sua mão. “Cuide-se.”
“Mandei meu advogado começar a trabalhar no seu caso. Você vai sair em breve. Fique alerta, garoto, fique vivo.”
Joe tentou buscar consolo nessas palavras, mas sabia que, caso não passassem disso — palavras —, teria de cumprir uma pena que lhe pareceria ter o dobro da duração, pois ele teria permitido que a esperança entrasse. Assim que Maso deixasse aquele lugar para trás, poderia muito facilmente deixar Joe para trás também.
Ou então poderia dar a Joe um pedaço de cenoura apenas suficiente para que ele continuasse gerenciando sua operação atrás daqueles muros em seu nome, sem nenhuma intenção de contratá-lo quando ele saísse.
Fosse como fosse, Joe não podia fazer nada a não ser ficar sentado esperando para ver como as coisas iriam se desenrolar.
Quando Maso saiu, foi difícil não perceber. O que estivera fervendo em fogo brando de dentro do presídio foi banhado com gasolina do lado de fora. Maio Assassino, na alcunha inventada pelos jornais, deixou Boston pela primeira vez parecida com Detroit ou Chicago. Os soldados de Maso atacaram os contadores, destiladores, caminhões e soldados de White como se aquilo fosse uma estação aberta de caça. E era mesmo. Em um mês, Maso expulsou White de Boston, e seus poucos soldados remanescentes fugiram correndo atrás dele.
No presídio, foi como se a harmonia houvesse sido injetada no sistema de fornecimento de água. Os esfaqueamentos cessaram. Pelo restante do ano de 1928, ninguém mais foi jogado de nenhuma galeria ou apunhalado na fila da comida. Joe soube que a paz realmente chegara à Penitenciária de Charlestown quando conseguiu fechar negócio com dois dos melhores destiladores encarcerados de Albert White para que estes operassem por trás dos muros. Em pouco tempo, os guardas estavam contrabandeando gim para fora da Penitenciária de Charlestown, e a qualidade da bebida era tão boa que logo lhe rendeu um nome popular, Código Penal.
Joe dormia profundamente pela primeira vez desde que havia entrado pelos portões da frente, no verão de 1927. Teve tempo também de chorar pelo pai e de chorar por Emma, processo que havia represado, uma vez que teria atraído seus pensamentos para lugares que estes não deveriam visitar enquanto houvesse gente conspirando contra ele.
A brincadeira mais cruel que Deus fez com Joe durante a segunda metade de 1928 foi mandar Emma visitá-lo durante o sono. Ele sentia a perna dela se esgueirar por entre as suas, sentia o cheiro das gotinhas de perfume que ela passava atrás de cada orelha, abria os olhos e se deparava com os dela a três centímetros dos seus, sentia seu hálito nos lábios. Erguia os braços do colchão para poder alisar com as mãos suas costas nuas. Então abria os olhos de verdade.
Ninguém.
Somente a escuridão.
E ele rezava. Pedia a Deus para permitir que ela estivesse viva, mesmo que nunca mais tornasse a vê-la. Por favor, permita que ela esteja viva.
Mas Deus, quer ela esteja viva ou morta, seria possível por favor, por favor parar de mandá-la visitar meus sonhos? Não posso perdê-la repetidas vezes. É demais. É cruel demais. Senhor, tende piedade, pedia Joe.
Mas Deus não teve.
As visitas prosseguiram — e prosseguiriam — pelo restante do tempo de Joe na Penitenciária de Charlestown.
Seu pai nunca o visitava. No entanto, Joe sentia sua presença de um jeito que jamais sentira quando ele estava vivo. Às vezes ficava sentado na cama, abrindo e fechando a tampa do relógio, abrindo e fechando, e imaginava conversas que os dois poderiam ter tido caso todos os antigos pecados e expectativas frustradas não os tivessem atrapalhado.
Me fale sobre a mãe.
O que você quer saber?
Quem era ela?
Uma moça assustada. Uma moça muito assustada, Joseph.
Assustada com o quê?
Com o mundo lá fora.
O que tem no mundo lá fora?
Tudo o que ela não entendia.
Ela me amava?
À sua maneira.
Isso não é amor.
Para ela era. Não pense que ela abandonou você.
O que devo pensar, então?
Que ela ficou por sua causa. Caso contrário, teria deixado todos nós anos antes.
Não sinto saudade dela.
Engraçado. Eu sinto.
Joe fitava a escuridão. Sinto saudade sua.
Você logo vai me ver.
Depois de encaminhar as operações de destilaria e contrabando no presídio, bem como a rede de extorsão em troca de proteção, Joe teve tempo de sobra para ler. Graças a Lancelot Hudson Neto, leu praticamente tudo o que havia na biblioteca do presídio, uma façanha e tanto.
Lancelot Hudson Neto era o único homem rico de que alguém conseguia lembrar que fora condenado a uma pena em regime fechado na Penitenciária de Charlestown. Mas o crime de Lancelot fora tão ultrajante e tão público — ele havia jogado a esposa adúltera, Catherine, do telhado de sua casa de quatro andares em Beacon Street no meio do desfile do Dia da Independência de 1919 que passava por Beacon Hill — que mesmo as famílias mais tradicionais da cidade haviam largado a porcelana fina por tempo suficiente para concluir que, se houve algum dia uma chance de entregar um dos seus à plebe, era aquela. Lancelot Hudson Neto havia cumprido sete anos em Charlestown por homicídio involuntário. Ainda que não fossem propriamente trabalhos forçados, o regime da pena era fechado, suavizado apenas pelos livros que ele conseguira contrabandear para dentro do presídio, arranjo este condicionado ao fato de ele os deixar lá quando saísse. Joe leu pelo menos uns cem livros da coleção de Hudson. Dava para saber que eram dele porque, no canto superior direito da folha de rosto, ele escrevera com uma caligrafia miúda e apertada: “Propriedade original de Lancelot Hudson Neto. Vá se foder”. Joe leu Dumas, Dickens e Twain. Leu Malthus, Adam Smith, Marx & Engels, Maquiavel, os ensaios federalistas em defesa da Constituição original dos Estados Unidos e os Sofismas econômicos de Bastiat. Esgotada a coleção de Hudson, leu tudo o mais que estivesse à mão — romances baratos e faroestes, em sua maioria —, bem como revistas e jornais cuja entrada era permitida pela administração. Tornou-se praticamente um especialista em detectar que palavras ou frases inteiras eram censuradas.
Ao folhear uma edição do Boston Traveler, deparou-se com um artigo sobre um incêndio no terminal rodoviário da Viação Costa Leste, na St. James Avenue. Uma fiação elétrica puída fizera chover faíscas sobre a árvore de Natal do terminal. Em pouco tempo, o prédio havia pegado fogo. A respiração de Joe encurtou e travou enquanto ele estudava as fotografias do estrago. O guarda-volumes no qual havia guardado as economias de sua vida, incluindo os sessenta e dois mil dólares do assalto ao banco em Pittsfield, aparecia no canto de uma das imagens. Estava caído de lado sob uma das vigas do teto, o metal preto feito terra.
Joe não soube dizer que sensação era pior: a de que nunca mais iria respirar ou a de estar prestes a vomitar fogo pela traqueia.
Segundo a matéria, o prédio fora destruído por completo. Nada se salvara. Joe achou difícil acreditar nisso. Algum dia, quando tivesse tempo, iria descobrir qual dos funcionários da Viação Costa Leste havia se aposentado jovem e, segundo os boatos, levava a vida em grande estilo no exterior.
Até lá, iria precisar de um emprego.
Maso lhe ofereceu um no final daquele inverno, o mesmo dia em que informou a Joe que seu recurso estava caminhando a passos céleres.
“Você vai sair daqui logo logo”, disse-lhe Maso através da grade.
“Com todo o respeito, logo logo quando?”, indagou Joe.
“Antes do verão.”
Joe sorriu. “Sério?”
Maso aquiesceu. “Mas juízes não são baratos. Você vai ter que trabalhar por isso.”
“Por que não nos consideramos quites por eu não ter matado você?”
Maso estreitou os olhos; agora era um senhor distinto, de sobretudo de caxemira e terno de lã enfeitado com um cravo branco na lapela que combinava com a faixa de seda do chapéu. “Parece justo. A propósito, nosso amigo sr. White está fazendo bastante barulho em Tampa.”
“Tampa?”
Maso assentiu. “Ele ainda domina alguns lugares por lá. Não consigo pegar todos porque Nova York tem participação, e eles deixaram bem claro que não devo me meter com eles agora. Ele também traz o rum para o Norte pelas nossas rotas, e tampouco posso fazer nada em relação a isso. Mas, como ele está invadindo meu território lá no Sul, o pessoal de Nova York nos deu permissão para tirá-lo da jogada.”
“Permissão em que nível?”, perguntou Joe.
“Qualquer coisa exceto matá-lo.”
“Certo. O que você vai fazer, então?”
“Não é o que eu vou fazer. É o que você vai fazer, Joe. Quero que você assuma os negócios lá.”
“Mas quem administra Tampa é Lou Ormino.”
“Ele vai decidir que não quer mais essa dor de cabeça.”
“E vai decidir isso quando?”
“Uns dez minutos antes de você chegar lá.”
Joe pensou um pouco. “Tampa, é?”
“Lá faz calor.”
“Não me importo com calor.”
“Você nunca sentiu um calor feito o de lá.”
Joe deu de ombros. O velho tinha tendência a exagerar. “Vou precisar de alguém de confiança lá.”
“Sabia que você diria isso.”
“Ah, é?”
Maso aquiesceu. “Já está feito. Ele está lá há seis meses.”
“Onde o encontrou?”
“Montreal.”
“Seis meses?”, indagou Joe. “Há quanto tempo você está planejando isso?”
“Desde que Lou Ormino começou a pôr uma parte do meu lucro no bolso e Albert White apareceu para passar a mão no resto.” Ele se inclinou para a frente. “Se você descer lá e resolver a situação, Joe, vai passar o resto da vida vivendo feito um rei.”
“Quer dizer que, se eu assumir, vamos ser sócios meio a meio?”
“Não”, respondeu Maso.
“Mas Lou Ormino é seu sócio meio a meio.”
“E veja só no que isso vai dar.” Maso encarou Joe com seu verdadeiro rosto através da grade metálica.
“Então quanto eu vou levar?”
“Vinte por cento.”
“Vinte e cinco”, rebateu Joe.
“Fechado”, respondeu Maso, com uma centelha nos olhos que mostrou que teria subido até trinta. “Mas é melhor fazer por merecer.”
PARTE II
YBOR 1929-33
11
O MELHOR DA CIDADE
A primeira vez que Maso propôs a Joe assumir suas operações no oeste da Flórida, havia lhe avisado sobre o calor. Mesmo assim, Joe não estava preparado para o muro escaldante com o qual se deparou ao saltar na plataforma da estação ferroviária de Tampa em uma manhã de agosto de 1929. Estava usando um terno de verão xadrez príncipe de gales. Havia deixado o colete dentro da mala, mas ali na plataforma, enquanto esperava o carregador trazer sua bagagem com o paletó pendurado no braço e a gravata afrouxada, bastou o tempo de fumar um cigarro para ficar ensopado de suor. Havia tirado o chapéu Wilton ao descer do trem, com medo de o calor derreter a brilhantina dos cabelos e de esta se entranhar no forro de seda, mas tornou a colocá-lo para proteger a cabeça das garras do sol enquanto novos poros de seu peito e braços começavam a vazar.
Não era apenas o sol, pendurado bem alto e muito branco em um céu tão desprovido de nuvens que era como se nuvens jamais houvessem existido (e talvez não existissem mesmo ali; Joe não fazia a menor ideia), mas também a umidade digna de uma selva, como se ele estivesse envolto em uma bola de palha de aço que alguém tivesse jogado dentro de uma panela de óleo. E a cada poucos minutos o fogo era aumentado mais um pouco.
Assim como Joe, os outros homens que haviam descido do trem também tiraram o paletó; alguns haviam tirado o colete e a gravata e arregaçado as mangas da camisa. Alguns haviam colocado o chapéu; outros o haviam tirado e abanavam o rosto com ele. As passageiras usavam chapéus de veludo com abas largas, cloches de feltro ou chapéus de palha com largas viseiras. Algumas pobres coitadas haviam optado por materiais ainda mais pesados e abas cobrindo as orelhas. Usavam vestidos de crepe e xales de seda, mas não pareciam muito contentes com isso: tinham o rosto vermelho, os cabelos cuidadosamente penteados cheios de brechas e cachos, e coques se desmilinguiam em algumas nucas.
Era fácil distinguir os moradores locais — os homens usavam chapéus de palha, camisas de manga curta e calças de gabardine. Seus sapatos eram bicolores como o da maioria dos homens de agora, mas tinham cores mais vivas que os dos passageiros do trem. Quando as mulheres usavam algo na cabeça, eram chapelões de palha. Os vestidos eram bem simples e usava-se muito branco, como a moça que passava por ele agora: não havia absolutamente nada de especial em suas saia e blusa brancas, ambas um pouco puídas. Mas meu Deus, pensou Joe, que corpo debaixo daquela roupa: ele se movia sob o tecido fino como algo proibido torcendo para conseguir sair da cidade antes de os puritanos ficarem sabendo. O paraíso, pensou Joe, é escuro, luxuriante, e recobre membros que se movem feito água.
O calor devia tê-lo tornado mais lento que de costume, porque a mulher o pegou olhando, algo que jamais acontecera com ele em Boston. Mas a mulher — uma mulata, ou quem sabe até uma negra de algum tipo, ele não saberia dizer, mas com certeza de pele escura, escura feito cobre — lhe lançou uma olhadela repressora e seguiu andando. Talvez tenha sido o calor, ou talvez tenham sido os dois anos na prisão, mas Joe não conseguiu parar de observá-la se mover por baixo da roupa fina. Os quadris subiam e desciam na mesma cadência lânguida de sua bunda, e havia certa música na forma como os ossos e músculos das costas subiam e desciam, como uma sinfonia do corpo. Meu Deus, pensou ele, passei tempo demais na prisão. Os cabelos pretos e crespos da mulher estavam presos em um coque atrás da cabeça, mas uma solitária mecha descia pelo pescoço. Ela se virou para fitá-lo com fúria. Ele baixou os olhos antes de aquele olhar o alcançar, sentindo-se um menino de nove anos de idade surpreendido puxando a maria-chiquinha de uma menina no pátio da escola. Então se perguntou do que deveria sentir vergonha. Ela havia olhado para trás, não havia?
Quando tornou a levantar os olhos, a mulher havia se perdido na multidão perto da outra ponta da plataforma. Você não tem nada a temer de mim, quis dizer a ela. Nunca vai partir meu coração nem eu o seu. Já me aposentei do ramo dos corações partidos.
Joe havia passado os últimos dois anos aceitando não apenas o fato de Emma estar morta, mas de que, para ele, jamais haveria nenhum outro amor. Algum dia talvez viesse a se casar, mas seria um arranjo sensato, previsto para fazê-lo ascender na profissão e lhe proporcionar herdeiros. Adorava o conceito que essa palavra evocava — herdeiros. (Homens da classe trabalhadora tinham filhos. Homens bem-sucedidos tinham herdeiros.) Enquanto isso, recorreria às putas. Talvez a mulher que havia acabado de lhe lançar o olhar repressor fosse uma puta bancando a casta. Nesse caso, ele com certeza iria experimentá-la — uma linda puta mulata, perfeita para um príncipe do crime.
Quando o carregador depositou a bagagem de Joe na sua frente, ele lhe deu uma gorjeta composta de notas agora tão úmidas quanto todo o resto. Disseram-lhe que alguém viria aguardar seu trem, mas ele não se lembrara de perguntar como iriam identificá-lo no meio da multidão. Virou-se devagar, à procura de um homem que aparentasse má reputação suficiente, mas em vez disso viu a mulata descendo a plataforma outra vez na sua direção. Uma segunda mecha de cabelos caía por sua têmpora, e ela a afastou da bochecha com a mão livre. O outro braço estava preso ao de um rapaz latino de chapéu de palha, calça de seda parda com vincos longos e marcados, e uma camisa branca sem colarinho abotoada até o pescoço. Apesar do calor, seu rosto estava seco, bem como a camisa, mesmo no alto, onde o botão fechado apertava com força o pomo de adão. Ele se movia com o mesmo gingado suave da mulher; algo nas canelas e nos tornozelos, embora os passos em si fossem tão precisos que os pés chegavam a estalar na plataforma.
Os dois passaram por Joe falando espanhol, um fluxo leve e veloz de palavras, e a mulher lançou a Joe um olhar muito rápido, tão rápido que ele poderia tê-lo imaginado, embora duvidasse. O homem apontou para algo mais adiante na plataforma e disse alguma coisa em seu espanhol acelerado, e os dois riram, e então passaram por ele.
Joe estava se virando para dar mais uma olhada em busca de quem quer que estivesse indo apanhá-lo quando alguém fez exatamente isso — levantou-o da plataforma como se ele não pesasse mais do que uma trouxa de roupa. Ele baixou os olhos para os dois braços carnudos que lhe cingiam o tronco e sentiu um cheiro conhecido de cebolas cruas e água-de-colônia Arabian Sheik.
Foi largado de volta na plataforma, virou-se, e se viu cara a cara com seu velho amigo pela primeira vez desde aquele dia terrível em Pittsfield.
“Dion”, falou.
Dion deixara de ser rechonchudo para se tornar corpulento. Usava um terno champanhe risca de giz com quatro botões. A camisa lilás tinha um colarinho branco alto contrastante, usado por cima de uma gravata vermelho-sangue listrada de preto. As botinas pretas e brancas tinham cadarços que passavam dos tornozelos. Se você pedisse a um velho já meio cego para identificar o gângster da plataforma a cem metros de distância, era para Dion que ele apontaria o dedo trêmulo.
“Joseph”, disse ele com uma formalidade rígida, e então seu rosto redondo se desfez em um largo sorriso e ele tornou a levantar Joe do chão, desta vez pela frente, e lhe deu um abraço tão apertado que Joe temeu pela própria coluna.
“Sinto muito pelo seu pai”, sussurrou Dion.
“Sinto muito pelo seu irmão.”
“Obrigado”, respondeu Dion com estranha animação. “Tudo por causa de presunto enlatado.” Ele soltou Joe e sorriu. “Eu teria comprado porcos só para ele.”
Os dois começaram a descer a plataforma em meio ao forte calor.
Dion pegou uma das malas de Joe para carregá-la. “Quando Lefty Downer me achou lá em Montreal e me disse que os Pescatore queriam que eu viesse trabalhar para eles, pensei que fosse armação, juro a você. Mas aí eles disseram que você estava cumprindo pena com o velho, e eu pensei: ‘Se alguém é capaz de enfeitiçar o diabo em pessoa, é meu antigo companheiro’. Ele acertou os ombros de Joe com um tapa do braço grosso. “Que ótimo ter você de volta.”
“É bom estar livre”, comentou Joe.
“Charlestown foi...?”
Joe aquiesceu. “Talvez até pior do que dizem. Mas arrumei um jeito de tornar o lugar possível de viver.”
“Aposto que arrumou.”
No estacionamento, o calor estava ainda mais incandescente. Irradiava-se do chão de concha moída e dos carros, e Joe ergueu uma das mãos para proteger os olhos, mas não adiantou muito.
“Caramba, e você com esse terno de três peças”, falou para Dion.
“O segredo é o seguinte”, disse Dion enquanto chegavam perto de um Marmon 34 e ele largava a mala de Joe no chão de concha moída. “Da próxima vez que for a uma loja de departamentos, compre todas as camisas do seu tamanho. Eu uso quatro por dia.”
Joe espiou sua camisa lilás. “Conseguiu achar quatro dessa cor?”
“Oito.” Ele abriu a porta de trás do carro e acomodou a bagagem de Joe lá dentro. “São só alguns quarteirões, mas com este calor...”
Joe estendeu a mão para a porta do carona, mas Dion se adiantou para fazê-lo. Joe o encarou. “Está de sacanagem comigo.”
“Eu agora trabalho para você”, respondeu Dion. “Patrão Joe Coughlin.”
“Pare com isso.” Joe balançou a cabeça diante do absurdo da situação e entrou no carro.
Quando estavam saindo do estacionamento da estação, Dion falou: “Ponha a mão debaixo do banco. Vai encontrar um amigo”.
Joe obedeceu, e sua mão voltou trazendo uma pistola automática Savage calibre 32. Medalhões com efígies de cabeças de índios no cabo e um cano de nove centímetros. Joe a enfiou no bolso direito da calça e disse a Dion que iria precisar de um coldre, sentindo uma leve irritação com o fato de Dion não ter se lembrado de trazer um consigo.
“Quer o meu?”, perguntou Dion.
“Não, tudo bem”, respondeu Joe.
“Pode ficar com o meu.”
“Não”, respondeu Joe, pensando que ser patrão iria exigir um período de adaptação. “Só vou precisar de um logo.”
“No fim do dia”, falou Dion. “No máximo, prometo.”
Como tudo o mais por ali, o tráfego avançava lentamente. Dion os conduziu até Ybor City. Ali, o céu perdeu o branco ofuscante e adquiriu um tom de bronze causado pela fumaça das fábricas. Dion explicou que os charutos eram o esteio daquele bairro. Apontou para prédios de tijolo com altas chaminés e para as construções menores — algumas não passavam de casinhas de cômodos corridos com as portas da frente e de trás abertas —, onde trabalhadores curvados acima de mesas enrolavam charutos.
Foi recitando nomes — El Reloj e Cuesta-Rey, Bustillo, Celestino Vega, El Paraiso, La Pila, La Trocha, El Naranjal, Perfecto Garcia. Disse a Joe que o cargo mais cobiçado em uma fábrica era o de leitor, o sujeito que ficava sentado em uma cadeira no meio do chão de fábrica lendo romances famosos em voz alta enquanto os operários trabalhavam. Explicou que um fabricante de charutos se chamava tabaquero, as fábricas menores eram chinchals, palavra que também designava um tipo de barco, e a comida cujo cheiro ele talvez estivesse conseguindo sentir em meio ao fedor da fumaça devia ser bolos ou empanadas.
“Veja só você.” Joe deu um assobio. “Falando espanhol feito o rei da Espanha.”
“Por aqui é necessário”, respondeu Dion. “E italiano também. É melhor você se reciclar.”
“Você fala italiano, meu irmão falava, mas eu nunca aprendi.”
“Bom, espero que ainda aprenda tão rápido quanto antes. O motivo que nos faz conseguir tocar nossos negócios aqui em Ybor é porque o resto da cidade simplesmente nos deixa em paz. Para eles, nós não passamos de uns cucarachos e carcamanos imundos e, contanto que não criemos confusão demais e que os tabaqueiros não tornem a fazer greve para obrigar os donos das fábricas a chamarem a polícia e brutamontes para baterem nas pessoas, podemos fazer o que fazemos em paz.” Ele dobrou na Sétima Avenida, que parecia ser uma via principal: pedestres passavam pelas calçadas feitas de tábuas de madeira junto a prédios de dois andares com largas varandas, treliças de ferro forjado e fachadas de tijolo ou estuque que fizeram Joe recordar o fim de semana de bebedeira passado em Nova Orleans alguns anos antes. Trilhos corriam pelo centro da avenida, e ele viu um bonde vir na sua direção a vários quarteirões de onde estavam, o nariz desaparecendo e tornando a aparecer atrás de ondas de calor.
“Era de imaginar que a gente fosse se dar bem”, prosseguiu Dion, “mas nem sempre é assim que funciona. Os italianos e cubanos só convivem entre si. Mas os cubanos negros detestam os cubanos brancos, os cubanos brancos consideram os cubanos negros uns crioulos, e ambos esnobam todos os outros. Todos os cubanos odeiam os espanhóis. Os espanhóis consideram os cubanos uns negrinhos arrogantes que esqueceram seu lugar desde que foram libertados pelos Estados Unidos em 98. Os cubanos e os espanhóis desprezam os porto-riquenhos, e todo mundo caga na cabeça dos dominicanos. Os italianos só respeitam quem veio da bota de navio, e os americanos acham que de vez em quando alguém dá bola para o que eles pensam.”
“Você realmente nos chamou de americanos?”
“Eu sou italiano”, disse Dion, virando à esquerda e descendo por outra larga avenida, embora esta ainda não fosse asfaltada. “E sabe que por aqui tenho orgulho de ser?”
Joe viu o azul do golfo, os barcos no porto e os altos guindastes. Sentiu cheiro de sal, manchas de óleo, maré vazante.
“O porto de Tampa”, informou Dion com um floreio da mão enquanto os fazia percorrer ruas de tijolos vermelhos nas quais homens cruzavam seu caminho dirigindo empilhadeiras que cuspiam fumaça de óleo diesel, e os guindastes movimentavam pallets de duas toneladas bem alto acima de suas cabeças, fazendo as sombras das redes quadricularem o para-brisa. Um vapor tocou seu apito.
Dion parou o carro em frente a uma área de descarga mais abaixo do cais, e os dois saltaram para observar os homens lá embaixo desmontarem uma pilha de sacos de juta marcados com as palavras ESCUINTIA, GUATEMALA. Pelo cheiro, Joe percebeu que alguns dos sacos continham café e outros, chocolate. A meia dúzia de homens os descarregou em dois tempos, o guindaste tornou a suspender a rede e o pallet vazio, e os homens lá embaixo desapareceram por uma porta que levava para dentro do local de armazenamento.
Dion conduziu Joe até a escada e desceu.
“Para onde estamos indo?”
“Você vai ver.”
Na área de descarga mais abaixo, os homens haviam fechado a porta atrás de si. Joe e Dion se viram em pé sobre um chão de terra batida que recendia a tudo o que jamais havia sido descarregado sob o sol de Tampa: bananas, abacaxis, cereais. Óleo, batatas, gás e vinagre. Pólvora. Frutas podres e café fresquinho, cujo pó estalava sob os sapatos. Dion encostou a palma da mão na parede de cimento oposta à escada, deslizou a mão para a direita e a parede foi junto — simplesmente deu uma subidinha e se soltou de uma junção que Joe não conseguia ver a pouco mais de meio metro de distância. Uma porta apareceu e Dion deu duas batidas nela e depois aguardou, movendo os lábios enquanto contava. Então deu mais quatro batidas na porta, e uma voz do outro lado falou:
“Quem é?”
“Lareira”, respondeu Dion, e a porta se abriu.
Eles se viram diante de um corredor tão fino quanto o homem do outro lado da porta, vestido com uma camisa que talvez tivesse sido branca antes de o suor a manchar para todo o sempre. Sua calça era de brim marrom, e ele usava um lenço em volta do pescoço e um chapéu de caubói. Um revólver de seis tiros aparecia no cós da calça de brim. O caubói meneou a cabeça para Dion e os deixou passar antes de empurrar a parede de volta para o lugar.
O corredor era tão estreito que os ombros de Dion roçavam nas paredes enquanto ele caminhava na frente de Joe. Luzes fracas pendiam de um cano preso ao teto, uma lâmpada nua a cada sete metros mais ou menos, metade queimada. Joe teve quase certeza de distinguir uma porta no final do corredor. Calculou que estivesse a uns quatrocentos e cinquenta metros de distância, o que significava que poderia muito bem estar imaginando a sua existência. Tiveram de andar por um chão coberto de lama, com água pingando do teto e empoçando no chão, e Dion explicou que os túneis muitas vezes alagavam; de tempos em tempos, eles encontravam um bêbado morto pela manhã, último dos desgarrados da noite anterior que decidira tirar um pouco recomendável cochilo.
“Sério?”, indagou Joe.
“Sério. E sabe o que é pior? Às vezes as ratazanas os encontram.”
Joe olhou em volta. “Isso deve ser a coisa mais horrível que escutei neste mês.”
Dion deu de ombros e seguiu andando, e Joe correu os olhos para cima e para baixo pelas paredes e depois pelo caminho à sua frente. Nenhuma ratazana. Ainda.
“O dinheiro do banco de Pittsfield”, disse Dion enquanto andavam.
“Está seguro”, respondeu Joe. Acima da cabeça, pôde ouvir o estalo das rodas de um bonde seguida pelas pancadas lentas e pesadas do que supôs ser um cavalo.
“Seguro onde?”, Dion olhou para ele por cima do ombro.
“Como eles sabiam?”, indagou Joe.
Acima deles, várias buzinas soaram e um motor acelerou.
“Sabiam o quê?”, perguntou Dion, e Joe reparou que ele havia ficado um pouco mais careca, os cabelos escuros ainda fartos e oleosos nas laterais mas ralos e tímidos no alto da cabeça.
“Onde nos emboscar.”
Dion tornou a olhar para trás na sua direção.
“Eles sabiam e pronto.”
“Não é possível eles ‘saberem e pronto’. Nós passamos semanas vigiando aquele lugar. A polícia nunca passava por lá porque não tinha motivo para isso... não havia nada para proteger nem ninguém para servir.”
Dion meneou a cabeçorra. “Bom, não fui eu quem falou.”
“Nem eu”, disse Joe.
Já perto do final do túnel, a porta se revelou feita de aço escovado com uma fechadura de segurança de ferro. Os ruídos da rua tinham cedido lugar ao tilintar distante de prataria e louça sendo empilhada, e a passos de garçons andando apressados para lá e para cá. Joe tirou do bolso o relógio do pai e o abriu: era meio-dia.
Dion sacou de algum lugar dentro da calça folgada um molho de chaves de tamanho considerável. Abriu as trancas da porta, afastou as barras que a prendiam e destrancou a fechadura de segurança. Tirou a chave do molho e a estendeu para Joe. “Fique com ela. Vai usar, pode ter certeza.”
Joe pôs a chave no bolso.
“De quem é este lugar?”
“Era de Ormino.”
“Era?”
“Ah, você não leu os jornais de hoje?”
Joe fez que não com a cabeça.
“Ormino levou uns tiros ontem à noite.”
Dion abriu a porta, e eles subiram uma escada até outra porta que estava destrancada. Abriram-na e adentraram um recinto amplo e úmido, com piso e paredes de cimento. Mesas margeavam as paredes, e em cima dessas mesas havia o que Joe já esperava ver: fermentadores e extratores, alambiques e bicos de Bunsen, béqueres, tonéis e utensílios de coar.
“O melhor que o dinheiro pode comprar”, disse Dion, apontando para termômetros afixados à parede e conectados aos destiladores por tubos de borracha. “Se quiser um rum suave, tem que remover a fração entre 75,5 e 85,5 graus centígrados. Isso é muito importante para evitar, você sabe, que as pessoas morram ao tomar sua birita. Esses termômetros não erram, eles...”
“Eu sei como se fabrica rum”, disse Joe. “Na verdade, D, depois de dois anos na prisão, você pode citar qualquer substância que eu vou saber recondensar. Provavelmente seria capaz de destilar as porras dos seus sapatos. O que eu não estou vendo aqui, porém, são duas coisas bastante essenciais para fabricar rum.”
“Ah, é?”, indagou Dion. “Que coisas?”
“Melaço e mão de obra.”
“Eu deveria ter dito antes: temos um problema nesse departamento”, falou Dion.
Os dois atravessaram um bar clandestino vazio, disseram “lareira” diante de outra porta fechada e entraram na cozinha de um restaurante italiano localizado na East Palm Avenue. Passaram pela cozinha e entraram no salão, onde encontraram uma mesa perto da rua e próxima a um ventilador alto e preto tão pesado que pareciam ser necessários três homens e um boi para tirá-lo do lugar.
“Nosso distribuidor não está conseguindo mercadoria.” Dion desdobrou o guardanapo e o enfiou no colarinho da camisa, alisando-o por cima da gravata.
“Estou vendo”, disse Joe. “Por quê?”
“Pelo que ouvi dizer, os barcos têm afundado.”
“Quem é o distribuidor mesmo?”
“Um cara chamado Gary L. Smith.”
“Ellsmith?”
“Não”, disse Dion. “L. É a inicial do nome do meio dele. Ele insiste em ser chamado assim.”
“Por quê?”
“Mania de sulista.”
“Não seria mania de babaca?”
“É, pode ser.”
O garçom trouxe os cardápios e Dion pediu duas limonadas, garantindo a Joe que seriam as melhores que ele provaria na vida.
“Por que precisamos de um distribuidor?”, quis saber Joe. “Por que não estamos lidando direto com o fornecedor?”
“Bom, existem vários fornecedores. E são todos cubanos. Smith trata com cubanos para nós não precisarmos tratar. E ele também trata com os dixies.”
“Os transportadores.”
Dion aquiesceu enquanto o garçom trazia as limonadas.
“É, o pessoal local daqui até a Virgínia. São eles que transportam a mercadoria pela Flórida e para o norte pela costa.”
“Mas vocês têm perdido várias dessas cargas também.”
“É.”
“E quantos barcos mais podem ser afundados, quantos caminhões interceptados antes que a situação deixe de ser pura falta de sorte?”
“É”, repetiu Dion, pois aparentemente não conseguia pensar em mais nada para dizer.
Joe deu um gole em sua limonada. Não teve certeza de que fosse a melhor que já havia provado e, mesmo que fosse, era apenas limonada. Difícil se animar com a porra de uma limonada.
“Você seguiu as sugestões da minha carta?”
Dion aquiesceu. “Nos mínimos detalhes.”
“Quantos foram parar onde eu imaginei?”
“Uma alta porcentagem.”
Joe passou os olhos pelo cardápio em busca de algo que reconhecesse.
“Experimente o ossobuco”, aconselhou Dion. “É o melhor da cidade.”
“Para você tudo é ‘o melhor da cidade’”, disse Joe. “A limonada, os termômetros.”
Dion deu de ombros e abriu o seu cardápio. “Tenho um gosto refinado.”
“Ah, claro”, retrucou Joe. Fechando o cardápio, cruzou olhares com o garçom. “Vamos comer e depois fazer uma visitinha a Gary L. Smith.”
Dion estudou seu cardápio. “Vai ser um prazer.”
Sobre a mesa da sala de espera do escritório de Gary L. Smith estava disposta a edição matutina do Tampa Tribune. O cadáver de Lou Ormino era retratado dentro de um carro com vidraças estilhaçadas e assentos sujos de sangue. Em preto e branco, a fotografia da morte tinha o mesmo aspecto de todas elas: indigno. A manchete dizia:
CONHECIDO INTEGRANTE DO SUBMUNDO ASSASSINADO
CONHECIDO INTEGRANTE DO SUBMUNDO ASSASSINADO
“Você o conhecia bem?”
Dion assentiu. “Conhecia.”
“Gostava dele?”
Dion deu de ombros. “Não era um cara mau. Cortou as unhas dos pés em algumas reuniões, mas me deu um ganso de presente no Natal passado.”
“Vivo?”
Dion fez que sim. “Até eu chegar em casa, sim.”
“Por que Maso queria ele fora da jogada?”
“Ele não falou para você?”
Joe fez que não com a cabeça.
Dion deu de ombros. “Nem para mim.”
Durante um minuto, Joe não fez nada a não ser ouvir um relógio marcar os segundos e a secretária de Gary L. Smith virar as páginas rígidas da revista Photoplay. A secretária se chamava srta. Roe e tinha os cabelos escuros cortados bem curtos e levemente ondulados com a ajuda dos dedos. Usava uma blusa prateada de mangas curtas, abotoada na frente, com uma gravatinha de seda preta que caía por cima dos seios como uma prece atendida. Tinha um jeito de mal se mexer na cadeira — um rebolar quase imperceptível dos quadris — que fez Joe dobrar o jornal e começar a abanar o rosto.
Meu Deus, estou mesmo precisando transar, pensou.
Tornou a se inclinar para a frente. “Ele tem família?”
“Ele quem?
“Ele quem.”
“Lou? Tinha, sim.” Dion fez uma careta. “Por que está perguntando isso?”
“Só para saber.”
“Ele devia cortar as unhas dos pés na frente da família, também. Eles vão ficar contentes por não ter mais que varrer os pedaços.
O interfone sobre a mesa da secretária tocou e uma voz fina disse: “Srta. Roe, mande os garotos entrarem”.
Joe e Dion ficaram em pé.
“Garotos”, disse Dion.
“Garotos”, repetiu Joe, ajeitando os punhos da camisa e alisando os cabelos.
Gary L. Smith tinha dentes miúdos e quase tão amarelos como grãos de milho. Sorriu quando os dois entraram em sua sala e a srta. Roe fechou a porta atrás deles, mas não se levantou e tampouco sorriu com muita vontade. Atrás de sua mesa, persianas caribenhas bloqueavam a maior parte da luz do dia do oeste de Tampa, mas uma quantidade suficiente conseguia entrar para dar ao recinto um brilho cor de mel. Smith exibia o traje típico de um cavalheiro sulista: terno branco, camisa também branca e fina gravata preta. Observou-os sentar com um ar intrigado que Joe interpretou como medo.
“Quer dizer que os senhores são o novo achado de Maso.” Smith empurrou um umidor por cima da mesa na sua direção. “Sirvam-se. Os melhores charutos da cidade.”
Dion soltou um grunhido.
Joe recusou o umidor com um aceno, mas Dion pegou quatro charutos, guardou três no bolso e removeu a cabeça do quarto com uma mordida. Cuspiu-a na mão e a depositou na borda da mesa.
“Então, o que os trouxe até aqui?”
“Fui chamado para cuidar dos negócios de Lou Ormino por algum tempo.”
“Mas não é permanente”, disse Smith, acendendo o próprio charuto.
“Não é permanente o quê?”
“O senhor como substituto de Lou. Só estou dizendo isso porque o pessoal daqui gosta de lidar com gente conhecida, e ninguém conhece o senhor. Com todo o respeito.”
“Quem na organização o senhor sugeriria?”
Smith pensou um pouco. “Rickie Pozzetta.”
O nome fez Dion inclinar a cabeça. “Pozzetta não seria capaz de levar um cachorro até o hidrante.”
“Delmore Sears, então.”
“Outro idiota.”
“Bem, certo, então eu poderia assumir.”
“Não é má ideia”, disse Joe.
Gary L. Smith abriu os braços. “Só se os senhores acharem que sou a pessoa certa para esse trabalho.”
“É possível, mas precisamos saber por que os últimos três carregamentos foram atacados.”
“Os que estavam indo para o Norte, o senhor quer dizer?”
Joe aquiesceu.
“Falta de sorte”, respondeu ele. “É tudo em que consigo pensar. Acontece.”
“Então por que não mudam as rotas?”
Smith pegou uma caneta e rabiscou alguma coisa em um pedaço de papel. “Mas que boa ideia, sr. Coughlin.”
Joe aquiesceu.
“Uma ótima ideia. Com certeza vou pensar no assunto.”
Joe passou algum tempo olhando para o homem, vendo-o fumar enquanto a luz difusa entrava pelas venezianas e se espalhava pelo alto de sua cabeça; ficou olhando para ele até Smith começar a aparentar certo embaraço.
“Por que os carregamentos por mar têm sido tão irregulares?”
“Ah, isso é por causa dos cubanos”, respondeu Smith com facilidade. “Nós não temos controle nenhum sobre isso.”
“Há dois meses, o senhor recebeu catorze carregamentos em uma semana”, disse Dion, “três semanas depois foram cinco, na semana passada, nenhum.”
“Não é como misturar cimento”, retrucou Gary L. Smith. “Não basta acrescentar um terço de água para obter a mesma consistência a cada vez. Há vários fornecedores, com vários prazos diferentes, e eles podem estar lidando com um fornecedor de açúcar de lá que esteja enfrentando uma greve. Ou então o condutor do barco fica doente.”
“Nesse caso o senhor procura outro fornecedor”, disse Joe.
“Não é tão simples.”
“Por quê?”
A voz de Smith soava cansada, como se estivessem lhe pedindo para explicar mecânica de aviões para um gato. “Porque todos eles estão pagando tributo para o mesmo grupo.”
Joe tirou do bolso um pequeno caderno e o abriu. “Estamos falando da família Suárez, é isso?”
Smith espichou os olhos para o caderninho. “Isso. Os donos da Tropicale, na Sétima Avenida.”
“Quer dizer então que eles são os únicos fornecedores.”
“Não, acabei de falar.”
“Falar o quê?”, Joe estreitou os olhos para ele.
“O que estou dizendo é que eles fornecem parte do que nós vendemos, mas também tem vários outros. Tem um cara com quem costumo negociar, o nome dele é Ernesto. O cara tem uma mão de madeira. Dá para acreditar? Ele...”
“Se todos os outros fornecedores respondem ao mesmo fornecedor, então esse fornecedor é o único fornecedor. Parto do princípio de que é ele quem fixa os preços e todos os outros acatam, não é?”
Smith deu um suspiro de exasperação. “Acho que sim.”
“O senhor acha?”
“É que não é tão simples.”
“Por que não?”
Joe aguardou. Dion Aguardou. Smith reacendeu o charuto. “Há outros fornecedores. Eles têm barcos, têm...”
“São prestadores de serviço”, disse Joe. “Só isso. Eu quero tratar com o contratante. Vamos precisar de uma reunião com os Suárez assim que possível.”
“Não”, disse Smith.
“Não?”
“Sr. Coughlin, o senhor simplesmente não entende como as coisas são feitas em Ybor. Quem trata com Esteban Suárez e a irmã dele sou eu. Eu trato com todos os intermediários.”
Joe empurrou o telefone por cima da mesa até o cotovelo de Smith.
“Ligue para eles.”
“Sr. Coughlin, o senhor não está me escutando.”
“Estou, sim”, disse Joe com voz suave. “Pegue esse telefone, ligue para os Suárez e diga a eles que meu sócio e eu vamos jantar no Tropicale hoje à noite, e que ficaríamos muito gratos se pudéssemos ter a melhor mesa do restaurante e alguns minutos do tempo deles depois de comermos.”
“Por que não tira um ou dois dias para conhecer melhor os costumes daqui?”, perguntou Smith. “Depois disso, confie em mim, vai voltar e me agradecer por não ter ligado. E iremos conhecê-los juntos. Eu prometo.”
Joe levou a mão ao bolso. Pegou uns trocados e pôs em cima da mesa. Em seguida tirou os cigarros, depois o relógio do pai, e por fim a pistola calibre 32, que deixou em frente ao mata-borrão, apontada para Smith. Sacudiu o maço para pegar um cigarro, com os olhos pregados em Smith, enquanto este tirava o telefone do gancho e solicitava uma linha externa.
Joe ficou fumando enquanto Smith falava ao telefone em espanhol e Dion traduzia alguns trechos, e então Smith desligou.
“Ele nos reservou uma mesa para as nove”, disse Dion.
“Reservei uma mesa para as nove”, falou Smith.
“Obrigado.” Joe cruzou o tornozelo sobre o joelho. “Os Suárez são uma equipe de irmão e irmã, certo?”
Smith aquiesceu. “Sim, Esteban e Ivelia Suárez.”
“Agora, Gary, me diga uma coisa”, começou Joe, puxando um fio da meia junto ao osso do tornozelo, “você está trabalhando diretamente para Albert White?” Deixou o fio pendurado no dedo, em seguida o largou sobre o tapete de Gary L. Smith. “Ou tem algum intermediário que deveríamos conhecer?”
“Como disse?”
“Nós marcamos as suas garrafas, Smith.”
“Vocês o quê?”
“Marcamos tudo o que você destilou”, disse Dion. “Faz uns dois meses. Pontinhos no canto superior direito.”
Gary sorriu para Joe como se nunca tivesse escutado tal coisa.
“Sabe todos aqueles transportes que nunca chegaram ao destino?”, prosseguiu Joe. “Praticamente todas as garrafas foram parar em um dos bares clandestinos de Albert White.” Ele bateu a cinza do cigarro em cima da mesa. “Pode explicar isso?”
“Não estou entendendo.”
“Não está...?” Joe tornou a pôr os pés no chão.
“Não, quer dizer, eu não... O quê?”
Joe estendeu a mão para a pistola. “É claro que está.”
Gary sorriu. Parou de sorrir. Tornou a sorrir. “Não estou, não. Ei. Ei.”
“Você vem entregando a Albert White nossas rotas de fornecimento para o nordeste do país.” Joe ejetou o pente calibre 32 na palma da mão. Removeu a bala de cima com o polegar.
Gary tornou a falar. Disse “ei”.
Joe espiou pelo visor da pistola. “Ainda tem uma bala na câmara”, falou para Dion.
“É sempre bom deixar uma. Para garantir.”
“Garantir o quê?” Joe retirou a bala da câmara e a pegou. Depositou-a sobre a mesa, com a ponta virada na direção de Gary Smith.
“Sei lá”, disse Dion. “Coisas que você não vê chegando.”
Joe tornou a enfiar o pente no cabo da pistola. Inseriu uma das balas na câmara e pôs a arma no colo. “Pedi para Dion passar em frente à sua casa no caminho para cá. Uma bela casa. Dion disse que o bairro se chama Hyde Park, é isso?”
“Isso.”
“Que engraçado.”
“Por quê?”
“Tem um Hyde Park em Boston.”
“Ah. Engraçado, mesmo.”
“Bem, não que seja hilário nem nada. É só interessante.”
“É.”
“Ela é de estuque?”
“Como?”
“De estuque. Sua casa é feita de estuque, certo?”
“Bom, a estrutura é de madeira, mas sim, o acabamento é de estuque.”
“Ah. Então me enganei.”
“Não se enganou, não.”
“Você disse que era de madeira.”
“A estrutura é de madeira, mas o acabamento, a superfície, é sim de estuque. Então, sim, é isso... uma casa de estuque.”
“Você gosta dela?”
“Ahn?”
“Da casa de estuque com estrutura de madeira... você gosta dela?”
“Ficou meio grande agora que meus filhos estão...”
“Estão o quê?”
“Adultos. Que saíram de casa.”
Joe coçou a parte de trás da cabeça com o cano da 32. “Você vai ter que esvaziar a casa.”
“Eu não...”
“Ou contratar alguém para esvaziar.” Ele moveu as sobrancelhas em direção ao telefone. “Eles podem mandar as coisas para onde você acabar indo.”
Smith tentou recuperar o que havia desaparecido da sala vinte minutos antes: a ilusão de que estava no controle da situação. “Acabar indo ? Eu não vou embora daqui.”
Joe se levantou e levou a mão ao bolso do paletó. “Está comendo ela?”
“O quê? Comendo quem?”
Joe indicou a porta atrás de si com o polegar. “A srta. Roe.”
“O quê ?”, retrucou Smith.
Joe olhou para Dion. “Está.”
Dion se levantou. “Com certeza.”
Joe tirou do paletó um par de passagens. “Essa mulher é uma obra de arte. Adormecer ao lado dela deve ser como vislumbrar Deus. Depois disso, você sabe que tudo vai ficar bem.”
Pôs as passagens na mesa entre os dois. “Não me importa quem você vai levar... sua mulher, a srta. Roe, caramba, até as duas ou então nenhuma delas. Mas vai embarcar no trem da Seaboard das onze da noite. Da noite de hoje, Gary.”
Ele riu. Foi uma risada curta. “Não acho que o senhor esteja enten...”
Joe esbofeteou Gary L. Smith no rosto com tanta força que ele caiu da cadeira e bateu com a cabeça no radiador.
Ficaram esperando ele se levantar do chão. Ele endireitou a cadeira. Sentou-se, agora com o rosto inteiramente lívido, embora a bochecha e o lábio exibissem algumas gotinhas de sangue. Dion jogou um lenço na direção de seu peito.
“Ou você embarca nesse trem, Gary”, Joe pegou a bala de pistola de cima da mesa, “ou a gente enfia você debaixo dele.”
A caminho do carro, Dion perguntou: “Você estava falando sério?”.
“Estava.” Joe sentia-se irritado outra vez, embora não soubesse muito bem por quê. Às vezes simplesmente era tomado por uma escuridão. Gostaria de dizer que esses súbitos humores sombrios só vinham acontecendo desde a prisão, mas a verdade era que o vinham acometendo desde a sua mais remota lembrança. Às vezes sem motivo ou aviso. Dessa vez, contudo, talvez fosse por Smith ter mencionado que tinha filhos, e porque Joe não gostava de pensar em um homem que acabara de humilhar com algum tipo de vida fora do trabalho.
“Quer dizer que, se ele não embarcar no tal trem, está preparado para matá-lo?”
Ou talvez apenas porque era um cara sombrio com tendência a humores sombrios.
“Não.” Joe parou junto ao carro e aguardou. “Homens que trabalham para nós vão fazer isso.” Ele olhou para Dion. “Está me achando com cara de quê, de uma porra de um ajudante de lavoura?”
Dion abriu a porta para ele e Joe entrou no carro.
12
MÚSICA E ARMAS
Joe tinha pedido a Maso para lhe arrumar hospedagem em um hotel. Em seu primeiro mês na cidade, não queria pensar em nada a não ser nos negócios — o que incluía a procedência de sua próxima refeição, como seus lençóis e roupas eram lavados, e quanto tempo o cara que havia entrado no banheiro antes dele iria demorar. Maso disse que havia reservado um quarto para ele no Hotel Tampa Bay, cujo nome soava bem aos ouvidos de Joe, ainda que um pouco sem imaginação. Pensou que se tratasse de um hotel de beira de estrada, com camas decentes, comida sem gosto mas palatável e travesseiros murchos.
Em vez disso, Dion foi se aproximando com o carro de um palacete à beira do lago. Quando Joe articulou esse pensamento em voz alta, o amigo comentou: “Na verdade é assim que chamam esse hotel... Palacete Plant”. Henry Plant havia construído o palacete, mais ou menos como havia construído a maior parte da Flórida, para atrair especuladores imobiliários que tinham chegado à cidade aos montes nas duas décadas anteriores.
Antes de Dion conseguir chegar à porta principal, um trem passou na sua frente. Não era um trem de brinquedo, embora ele apostasse que havia trens de brinquedo ali também, mas uma locomotiva transcontinental com quase meio quilômetro de comprimento. Joe e Dion ficaram parados pouco antes do estacionamento vendo homens ricos, mulheres ricas e seus ricos filhos desembarcarem do trem. Enquanto aguardavam, Joe contou mais de cem janelas no hotel. No alto das paredes de tijolo vermelho havia uma série de águas-furtadas que Joe supôs serem as suítes. Seis minaretes se erguiam ainda mais alto do que as águas-furtadas, apontando em direção ao céu branco ofuscante — um palácio de inverno russo no meio dos pântanos dragados da Flórida.
Um casal elegante trajando roupas brancas engomadas desceu do trem. As três babás e os três filhos elegantes desceram atrás. Logo em seu encalço, dois carregadores negros empurravam carrinhos de bagagem com altas pilhas de baús de viagem.
“A gente volta depois”, disse Joe.
“Como é?”, estranhou Dion. “Podemos estacionar aqui e levar suas malas até lá. Pegar um...”
“A gente volta depois.” Joe ficou olhando o casal entrar no hotel como se tivesse sido criado em casas duas vezes maiores do que aquela. “Não quero esperar na fila.”
Dion pareceu prestes a dizer mais alguma coisa sobre o assunto, mas então suspirou baixinho, e os dois voltaram pela estrada, atravessando pequenas pontes de madeira e margeando um campo de golfe. Viram um casal mais velho sentado em um riquixá sendo puxado por um latino baixinho de camisa branca de mangas compridas e calça também branca. Plaquinhas de madeira apontavam para as quadras de shuffleboard, reserva de caça, canoas, quadras de tênis e pista de corrida. Passaram pelo campo de golfe, mais verde do que Joe teria apostado que estaria com aquele calorão, e a maioria das pessoas que viram trajava branco e carregava sombrinhas, até mesmo os homens, e suas risadas soavam secas e distantes no ar.
Entraram em Lafayette Street e chegaram ao centro. Dion contou a Joe que os Suárez iam a Cuba com frequência, e pouca gente sabia muita coisa sobre eles. Ivelia, segundo diziam, fora casada com um homem que havia morrido durante a rebelião de trabalhadores da cana-de-açúcar em 1912. Dizia-se também que a história era uma fachada para disfarçar suas inclinações lésbicas.
“Esteban tem várias empresas, tanto aqui quanto lá”, disse Dion. “Um cara jovem, bem mais jovem do que a irmã. Mas esperto. O pai fez negócios com Ybor em pessoa quando Ybor...”
“Espere aí”, disse Joe, “esta cidade foi batizada em homenagem a um homem só?”
“Sim”, respondeu Dion. “Vicente Ybor. Ele era do ramo dos charutos.”
“Isso sim é poder”, comentou Joe. Olhou pela janela e viu Ybor City ao leste, bela assim vista de longe, fazendo Joe pensar outra vez em Nova Orleans, só que uma versão bem menor.
“Sei lá”, disse Dion. “Coughlin City?” Ele balançou a cabeça. “Não soa bem.”
“Não mesmo”, concordou Joe. “Mas e Condado de Coughlin?”
Dion deu uma risadinha. “Sabe de uma coisa? Nada mau.”
“Soa bem, não é?”
“Você passou a ter mania de grandeza quando estava na prisão?”, perguntou Dion.
“Se você preferir sonhar pequeno...”, retrucou Joe.
“Que tal País de Coughlin? Não, espere, que tal Continente Coughlin?”
Joe riu, e Dion gargalhou e deu vários tapas no volante, e Joe ficou surpreso ao constatar quanta falta sentira do amigo e quanto seu coração iria se partir caso tivesse que ordenar seu assassinato no fim daquela semana.
Dion desceu Jefferson Street em direção aos tribunais e prédios do governo; o tráfego ficou mais lento, e o calor tornou a entrar no carro.
“E agora, o que fazemos?”, indagou Joe.
“Você quer heroína? Morfina? Cocaína?”
Joe fez que não com a cabeça. “Parei com tudo para a Quaresma.”
“Bom, se um dia decidir se viciar, este é o lugar certo, amizade. Tampa, Flórida: capital dos narcóticos ilícitos no Sul.”
“A Câmara de Comércio sabe disso?”
“Sabe, e não gosta nem um pouco. Mas, enfim, o motivo pelo qual falei nisso...”
“Ah, tem um motivo”, disse Joe.
“Acontece comigo de vez em quando.”
“Nesse caso, senhor, queira ter a gentileza de prosseguir.”
“Um dos caras de Esteban, um tal de Arturo Torres, foi pego semana passada por cocaína. Normalmente teria saído meia hora depois de entrar, mas neste momento tem uma força-tarefa federal metendo o bedelho por aí. Uns caras da receita apareceram no início do verão com um bando de juízes, e o cerco apertou. Arturo vai ser deportado.
“E nós com isso?”
“Ele é o melhor fabricante de bebidas de Esteban. Em Ybor, se você vir uma garrafa de rum com as iniciais de Torres na rolha, vai custar o dobro.”
“E ele vai ser deportado quando?”
“Daqui a umas duas horas.”
Joe cobriu o rosto com o chapéu e afundou no assento. De repente, sentiu-se exausto com a viagem de trem, o calor, com tanto raciocínio, com aquele desfile ofuscante de gente rica e branca com suas roupas ricas e brancas. “Me acorde quando a gente chegar lá.”
Depois de encontrar o juiz, eles saíram do tribunal para fazer uma visita de cortesia ao comandante do Departamento de Polícia de Tampa, Irving Figgis.
A sede da polícia ficava na esquina da Florida Avenue com Jackson Street, e Joe já tinha se orientado o bastante para perceber que teria de passar por ele todos os dias no caminho do hotel para o trabalho em Ybor. Nisso, policiais eram como freiras — sempre faziam você saber que estavam observando.
“Ele pediu para você se apresentar para não ter que ir buscá-lo”, explicou Dion enquanto subiam os degraus do prédio.
“Como ele é?”
“Da polícia, ou seja, um babaca”, respondeu Dion. “Tirando isso, é um cara legal.”
Em sua sala, Figgis estava rodeado por fotografias das mesmas três pessoas — uma esposa, um filho e uma filha. Eram todos louros e espantosamente atraentes. As crianças tinham a pele tão imaculada que pareciam ter sido esfregadas por anjos. O comandante apertou a mão de Joe, olhou-o bem nos olhos e lhe pediu para se sentar. Irving Figgis não era um homem alto, nem grande ou musculoso. Era esguio, tinha a estatura mais para baixa, e usava os cabelos grisalhos cortados curtos rente ao crânio. Parecia ser um homem que o trataria de forma justa se você também o tratasse, mas que transformaria sua vida em um inferno duas vezes pior do que a encomenda se você o fizesse passar por bobo.
“Não vou ofendê-lo perguntando a natureza do seu trabalho para que o senhor não precise me ofender mentindo”, disse ele. “De acordo?”
Joe assentiu.
“É verdade que o senhor é filho de um capitão da polícia?”
Joe aquiesceu. “Sim, comandante.”
“Então o senhor entende.”
“Entendo o que, comandante?”
“Que isto aqui”, ele apontou alternadamente para o próprio peito e para o de Joe, “é como nós vivemos. Mas o resto?” — Ele gesticulou para as fotografias. “Bem, o resto é o motivo pelo qual nós vivemos.”
Joe assentiu. “E os dois nunca irão se encontrar.”
O comandante Figgis sorriu. “Ouvi dizer também que é instruído.” Um olhar de relance para Dion. “Não é muito comum no seu ramo.”
“Nem no seu”, retrucou Dion.
Figgis sorriu e inclinou a cabeça para trás, reconhecendo o fato. Encarou Joe com um olhar brando. “Antes de me mudar para cá, fui soldado, depois oficial de justiça federal. Já matei sete homens nesta vida”, disse ele sem um pingo de orgulho.
Sete, pensou Joe? Meu Deus do céu.
O olhar do comandante Figgis se manteve suave, neutro. “Matei porque era o meu trabalho. Não tiro prazer disso e, para dizer a verdade, os rostos desses homens vêm me assombrar quase todas as noites. No entanto, se eu precisasse matar um oitavo amanhã para proteger e servir a esta cidade? Faria isso com o braço firme e os olhos secos, meu senhor. Está entendendo até agora?”
“Estou”, respondeu Joe.
O comandante Figgis foi se postar junto a um mapa da cidade na parede atrás de sua mesa, e usou o dedo para traçar um círculo vagaroso em volta de Ybor City.
“Se o senhor mantiver seus negócios limitados a esta área... ao norte da Segunda Avenida, ao sul da Vigésima Sétima, a oeste da rua Trinta e Quatro e a leste da Nebraska Avenue... nós dois teremos poucos motivos para discordar.” Ele arqueou a sobrancelha de leve para Joe. “Que tal lhe parece?”
“Parece bom”, respondeu Joe, perguntando-se quando o comandante iria dar seu preço.
Figgis viu a pergunta nos olhos de Joe, e os seus escureceram de leve. “Eu não aceito subornos. Se aceitasse, três desses sete mortos que mencionei ainda estariam entre os vivos.” Ele deu a volta, sentou-se na borda da mesa e pôs-se a falar com uma voz muito baixa. “Meu jovem sr. Coughlin, não tenho ilusões quanto à maneira como os negócios são feitos nesta cidade. Se o senhor me perguntasse em particular o que penso de Volstead, o responsável pela Lei Seca, me veria fazer uma imitação bem razoável de uma chaleira fervendo. Sei que muitos de meus agentes aceitam dinheiro para olhar para o outro lado. Sei que sirvo a uma cidade mergulhada em corrupção. Sei que vivemos em um mundo desgraçado. Mas, só porque eu respiro um ar corrompido e convivo com gente corrupta, nunca cometa o erro de pensar que sou corruptível.”
Joe perscrutou a expressão do comandante em busca de sinais de fanfarronice, orgulho ou autoenaltecimento — as fraquezas habituais que passara a associar com os self-made men.
A única coisa que o encarou de volta foi uma força moral tranquila.
O comandante Figgis, concluiu ele, jamais deveria ser subestimado.
“Não vou cometer esse erro”, disse Joe.
O comandante Figgis estendeu a mão, e Joe a apertou.
“Obrigado por ter vindo. Cuidado com o sol.” Um clarão bem-humorado atravessou a expressão de Figgis. “Desconfio que essa sua pele seja capaz de pegar fogo.”
“Prazer em conhecê-lo, comandante.”
Joe andou até a porta, Dion a abriu, e do outro lado estava postada uma menina adolescente, ofegante, explodindo de energia. Era a filha que aparecia nas fotos, linda e loura, com a pele rosada tão perfeita que era como se irradiasse uma suave luz do sol. Joe avaliou que tivesse dezessete anos. A beleza da menina encontrou sua garganta, fechou-a por um instante, e reteve ali as palavras prestes a sair de sua boca, de modo que tudo o que ele conseguiu articular foi um hesitante: “Senhorita...”. No entanto, não era uma beleza que evocasse nada de carnal. De certa forma, era mais pura do que isso. A beleza da filha do comandante Irving Figgis não era algo que a pessoa quisesse conspurcar; era algo que a pessoa queria beatificar.
“Sinto muito, pai”, disse ela. “Achei que o senhor estivesse sozinho.”
“Tudo bem, Loretta. Os cavalheiros estão de saída. Onde estão seus modos?”, perguntou.
“Sim, pai, desculpe.” Virando-se, ela fez uma pequena mesura para Joe e Dion. “Srta. Loretta Figgis, cavalheiros.”
“Joe Coughlin, srta. Loretta. Prazer em conhecê-la.”
Quando Joe apertou de leve a mão da menina, teve o impulso muito estranho de fazer uma genuflexão. Ficou pensando nisso o dia inteiro: em como ela era imaculada, como era delicada, e como devia ser difícil ser pai de algo tão frágil.
* * *
Mais tarde nessa mesma noite, os dois foram jantar no Vedado Tropicale, em uma mesa à direita do palco que lhes proporcionava uma visão perfeita das dançarinas e da banda. Como era cedo, a banda — baterista, pianista, trompetista e trombonista — tocava músicas animadas, mas sem dar tudo de si. As dançarinas usavam pouco mais do que combinações claras feito gelo, cuja cor combinava com os arranjos de cabeça variados. Duas delas usavam bandôs de paetês com aigrettes se erguendo do centro da testa. Outras tinham redes prateadas nos cabelos, com rosetas de miçangas translúcidas e franjas. Dançavam com uma das mãos no quadril e a outra erguida no ar, apontada para o público. Exibiam aos clientes da hora do jantar a quantidade exata de pele e movimentos para não ofender as damas, mas para garantir que os cavalheiros voltassem mais tarde.
Joe perguntou a Dion se o jantar ali era o melhor da cidade.
Dion sorriu ao mesmo tempo que abocanhava uma garfada de lechón asado e mandioca frita. “Do país.”
Joe sorriu.
“Nada mau, devo dizer.” Joe tinha pedido uma ropa vieja com feijão preto e arroz com açafrão-da-terra. Limpou o prato e desejou que este fosse maior.
O maître apareceu e lhes informou que o café os aguardava junto com seus anfitriões, e Joe e Dion o seguiram pelo chão de lajotas brancas, passaram pelo palco e atravessaram uma cortina de veludo escuro. Desceram um corredor revestido do mesmo carvalho vermelho dos tonéis de rum, e Joe se perguntou se teriam comprado algumas centenas de tonéis do outro lado do golfo só para forrar aquele corredor. Teriam de ter comprado mais do que algumas centenas, na realidade, pois o escritório era revestido da mesma madeira.
Estava fresco lá dentro. O piso era de pedra escura, e ventiladores de teto feitos de ferro que pendiam das vigas estalavam e rangiam. As ripas das venezianas caribenhas abertas deixavam entrar a noite e o zumbido interminável das libélulas.
Esteban Suárez era um homem esbelto, e sua pele perfeita tinha a cor de um chá bem claro. Os olhos tinham o mesmo tom de amarelo dos de um gato, e os cabelos, penteados com brilhantina para longe da testa, eram da cor do rum escuro da garrafa sobre a mesa de centro. Estava usando uma casaca e uma gravata-borboleta de seda preta, e os recebeu com um sorriso radioso e um aperto de mão pleno de vigor. Conduziu-os até poltronas de encosto alto com abas laterais dispostas em volta de uma mesa de centro de cobre. Sobre a mesa havia quatro pequeninas xícaras de café cubano, quatro copos d’água e a garrafa de rum Suárez Reserva dentro de um cesto de vime.
Ivelia, irmã de Esteban, levantou-se de onde estava sentada e estendeu a mão. Joe fez uma mesura, segurou a mão dela e ali roçou de leve os lábios. A pele recendia a gengibre e serragem. Ela era bem mais velha do que o irmão, e tinha a pele tesa sobre um maxilar comprido e maçãs do rosto e cenho saltados. As grossas sobrancelhas se uniam no centro feito um bicho-da-seda, e os grandes olhos pareciam aprisionados dentro do crânio, saltados para escapar mas incapazes de fazê-lo.
“Como estava o jantar?”, perguntou Esteban quando os dois se sentaram.
“Excelente, obrigado”, respondeu Joe.
Esteban lhes serviu copos de rum e puxou um brinde. “A uma relação promissora.”
Todos beberam. Joe ficou espantado com a suavidade e o sabor do rum. Aquele era o gosto da bebida alcoólica quando se tinha mais de uma hora para destilá-la, mais de uma semana para fermentá-la. Meu Deus do céu.
“Excepcional.”
“Este é o quinze anos”, disse Esteban. “Nunca concordei com o regulamento espanhol de antigamente, segundo o qual o rum mais claro era superior.” Pensar nisso o fez balançar a cabeça, e ele cruzou as pernas nos tornozelos. “É claro que nós, cubanos, acatamos o regulamento, pois consideramos que tudo é melhor mais claro: cabelos, pele, olhos.”
Descendentes da linhagem espanhola, e não da africana, os irmãos Suárez tinham a pele clara.
“Sim”, disse Esteban, lendo os pensamentos de Joe. “Minha irmã e eu não pertencemos às classes mais baixas. O que não significa que concordemos com a ordem social de nossa ilha.”
Ele tomou outro gole de rum, e Joe fez o mesmo.
“Que bom seria se pudéssemos vender isto no Norte”, disse Dion.
Ivelia riu. Uma risada muito incisiva e curta. “Um dia. Quando o seu governo voltar a tratar vocês como adultos.”
“Não há pressa”, disse Joe. “Ficaríamos todos sem emprego.”
“Minha irmã e eu não teríamos problemas”, interveio Esteban. “Temos este restaurante, mais dois em Havana e um em Key West. Temos uma fazenda de cana em Cárdenas e outra de café em Marianao.”
“Então por que fazer isto aqui?”
Esteban encolheu os ombros dentro de sua casaca perfeita. “Por dinheiro.”
“Mais dinheiro, o senhor quer dizer.”
O cubano ergueu o copo para brindar a isso. “Há outras coisas com as quais gastar dinheiro que não sejam...” Ele indicou o recinto com o braço. “Coisas.”
“Palavras de um homem que possui muitas coisas”, comentou Dion, e Joe lhe desferiu um olhar.
Pela primeira vez, Joe reparou que a parede oeste do escritório estava inteiramente coberta por fotografias em preto e branco — em sua maioria cenas de rua, fachadas de boates, alguns retratos, uma ou duas aldeias tão arruinadas que o vento seguinte iria derrubá-las.
Ivelia seguiu seu olhar. “É meu irmão quem as tira.”
“Ah, é?”, indagou Joe.
Esteban aquiesceu. “Sempre que volto a Cuba. É um hobby.”
“Hobby”, repetiu sua irmã com um muxoxo. “As fotografias do meu irmão já foram publicadas na revista Time.”
Esteban reagiu com um dar de ombros modesto.
“São boas”, comentou Joe.
“Algum dia quem sabe posso fotografá-lo, sr. Coughlin.”
Joe fez que não com a cabeça. “Infelizmente nesse quesito acho que eu penso como os índios.”
Esteban deu um sorriso de viés. “Falando em almas aprisionadas, lamentei saber sobre o falecimento do señor Ormino ontem à noite.”
“Lamentou, mesmo?”, perguntou Dion.
Esteban deu uma risadinha tão suave que mal se diferenciou de uma expiração. “E amigos me disseram que Gary L. Smith foi visto pela última vez a bordo de um trem da Seabord Limited com a esposa em um vagão-leito e a puta maestra em outro. Dizem que a bagagem dele parecia ter sido empacotada às pressas, mas que era abundante.”
“Às vezes mudar de ares pode renovar a vida de um homem”, comentou Joe.
“Foi assim para o senhor?”, indagou Ivelia. “Veio para Ybor em busca de uma vida nova?”
“Eu vim refinar, destilar e distribuir o rum do demônio. Mas vou ter problemas para fazer isso com sucesso se tiver um cronograma de importação irregular.”
“Nós não controlamos todas as embarcações, todos os oficiais de alfândega nem todas as docas”, disse Esteban.
“É claro que controlam.”
“Não controlamos as marés.”
“As marés não prejudicaram os barcos com destino a Miami.”
“Não tenho nada a ver com os barcos que vão para Miami.”
“Eu sei disso.” Joe assentiu com a cabeça. “Quem administra essa rota é Nestor Famosa. E ele garantiu a meus sócios que o mar tem se mostrado calmo e previsível neste verão. Pelo que ouvi dizer, Nestor Famosa é um homem de palavra.”
“E com isso o senhor quer dizer que eu não sou.” Esteban serviu a todos mais um copo de rum. — Também está mencionando o señorFamosa para me deixar preocupado que ele talvez possa assumir minhas rotas de abastecimento caso o senhor e eu não cheguemos a um acordo.”
Joe pegou seu copo sobre a mesa e deu um golinho. “Estou mencionando Famosa... meu Deus do céu, este rum é perfeito... para ilustrar o fato de que os mares têm estado calmos neste verão. Atipicamente calmos para a estação, segundo me disseram. Eu não faço rodeios, señorSuárez, nem costumo falar por enigmas. Pergunte a Gary L. Smith. O que eu quero é eliminar todos os intermediários e tratar com o senhor diretamente. Para isso, os senhores podem aumentar um pouco o preço. Comprarei todo o melaço e todo o açúcar que tiverem. Além disso, proponho que os senhores e eu financiemos em parceria uma destilaria melhor do que as que temos atualmente cevando todas as ratazanas da Sétima Avenida. Eu não herdei apenas as responsabilidades de Lou Ormino: herdei também os conselheiros municipais, policiais e juízes que ele comprou. Muitos desses homens não lhe dirigem a palavra porque o senhor é cubano, por mais alta que seja a sua estirpe. Poderá ter acesso a eles graças a mim.”
“Sr. Coughlin, o único motivo pelo qual o señor Ormino teve acesso a esses juízes e policiais foi porque tinha o señor Smith como fachada para o público. Esses homens não apenas se recusam a negociar com um cubano, mas também se recusam a negociar com um italiano. Para eles nós somos todos latinos, todos cães de pele escura, bons para trabalhar, mas praticamente para mais nada.”
“Que sorte eu ser irlandês”, disse Joe. “Acho que o senhor conhece um homem chamado Arturo Torres.”
As sobrancelhas de Esteban exibiram um movimento fugaz.
“Ouvi dizer que ele foi deportado hoje à tarde”, disse Joe.
“Também ouvi dizer isso”, falou Esteban.
Joe aquiesceu. “Para demonstrar nossa boa-fé, Arturo foi solto da cadeia meia hora atrás e deve estar lá embaixo no restaurante neste exato momento.”
Por alguns instantes, o rosto comprido e sem graça de Ivelia ficou ainda mais comprido de surpresa, ou até deleite. Ela olhou na direção do irmão e este concordou. Ivelia deu a volta na mesa até o telefone. Enquanto aguardavam, os três ficaram bebericando rum.
Ivelia desligou o telefone e voltou ao seu lugar. “Ele está no bar.”
Esteban tornou a se recostar na poltrona e estendeu as mãos, com os olhos fixos em Joe. “O senhor iria querer direitos exclusivos ao nosso melaço, suponho.”
“Exclusivos, não”, respondeu Joe. “Mas os senhores não podem vender para a organização de White nem para nenhuma pessoa ligada a ela. Qualquer operação pequena sem associação com White ou conosco pode continuar tocando seus negócios. Vamos acabar conseguindo trazê-las para trabalhar conosco.”
“E em troca disso eu ganho acesso aos seus políticos e policiais.”
Joe assentiu. “E aos meus juízes. Não só os que temos agora, mas os que teremos no futuro.”
“O juiz que o senhor acionou hoje foi nomeado pelo poder federal.”
“E tem três filhos com uma negra de Ocala cuja existência muito espantaria sua esposa e o presidente Herbert Hoover.”
Esteban passou um bom tempo olhando para a irmã antes de tornar a se virar para Joe. “Albert White é um bom cliente. Tem sido já faz algum tempo.”
“Há dois anos”, disse Joe. “Desde que alguém cortou a garganta de Clive Green em um puteiro no lado leste da Vigésima Quarta Avenida.”
Esteban arqueou as sobrancelhas.
“Estou na prisão desde março de 27, señor Suárez. Não tive nada para fazer exceto meu dever de casa. Albert White pode lhe oferecer o que estou oferecendo?”
“Não”, admitiu Esteban. “Mas tirá-lo da jogada me causaria uma guerra que não posso travar. Simplesmente não posso. Gostaria de ter conhecido o senhor há dois anos.
“Bem, está me conhecendo agora”, disse Joe. “Eu lhe ofereci juízes, policiais, políticos e um modelo de destilaria centralizado para que ambos possamos dividir os lucros por igual. Eliminei os dois elos mais fracos da minha organização e impedi que o seu precioso fabricante de bebida fosse deportado. Fiz tudo isso para que o senhor considere a possibilidade de pôr fim ao seu embargo à operação Pescatore em Ybor porque pensei que estivesse nos mandando um recado. Estou aqui para lhe dizer que ouvi seu recado. E, se me disser do que precisa, vou providenciar. Mas o senhor tem que me dar o que eu preciso.”
Esteban e a irmã trocaram outro olhar.
“Tem uma coisa que o senhor poderia providenciar para nós”, disse ela.
“Muito bem.”
“Mas está muito bem guardada e não vai ser possível obtê-la sem brigar.”
“Tudo bem, tudo bem”, disse Joe. “Nós vamos conseguir.”
“O senhor não sabe nem o que é.”
“Se conseguirmos, os senhores vão romper todos os vínculos com Albert White e os sócios dele?”
“Sim.”
“Mesmo que isso cause derramamento de sangue.”
“Com certeza vai causar derramamento de sangue”, disse Esteban.
“Sim, vai mesmo”, concordou Joe.
Esteban refletiu pesarosamente sobre isso por alguns instantes, e a tristeza encheu o recinto. Ele então tornou a sugá-la rapidamente da sala. “Se fizer o que vou pedir, Albert White nunca mais vai ver uma gota sequer do melaço ou do rum destilado dos Suárez. Nenhuma gota.”
“Ele vai poder comprar açúcar dos senhores no atacado?”
“Não.”
“Fechado”, disse Joe. “Do que vocês precisam?”
“De armas.”
“Certo. É só dizer o modelo.”
Esteban esticou a mão para trás de si e pegou um pedaço de papel sobre a mesa. Ajeitou os óculos e consultou o papel.
“Fuzis automáticos Browning, pistolas automáticas e metralhadoras calibre 50 com tripés.”
Joe olhou para Dion, e ambos deram uma risadinha.
“Algo mais?”
“Sim”, respondeu Esteban. “Granadas. E minas de caixa.”
“O que são minas de caixa?”
“Estão no navio”, respondeu Esteban.
“Que navio?”
“O navio de transporte militar”, respondeu Ivelia. “No Píer Sete.” Ela inclinou a cabeça em direção à parede dos fundos da sala. “A nove quarteirões daqui.”
“Querem que ataquemos um navio da Marinha”, disse Joe.
“Isso.” Esteban olhou para o relógio. “Em dois dias no máximo, por favor, senão eles vão zarpar.” Ele entregou a Joe um pedaço de papel dobrado. Ao desdobrá-lo, Joe sentiu um espaço oco se abrir no centro de seu corpo, e lembrou-se de como havia entregado bilhetes iguais àquele ao pai. Passara dois anos dizendo a si mesmo que o peso daqueles bilhetes não tinha matado seu pai. Em algumas noites, quase conseguia convencer a si mesmo.
Círculo Cubano, oito da manhã.
“Vá até lá de manhã”, instruiu Esteban. “Irá encontrar uma mulher chamada Graciela Corrales. Receberá ordens dela e do seu sócio.”
Joe guardou o papel no bolso. “Não recebo ordens de mulher.”
“Se quiser Albert White fora de Tampa, vai receber ordens dela”, retrucou Esteban.
13
O BURACO DO CORAÇÃO
Dion conduziu Joe até seu hotel pela segunda vez, e Joe lhe disse para aguardar até ele decidir se iria ou não passar a noite ali.
O porteiro estava vestido como um macaco de circo, com um smoking de veludo vermelho e um chapéu fez combinando, e surgiu de trás de uma palmeira em vaso na varanda para pegar as malas de Joe das mãos de Dion e conduzir Joe hotel adentro enquanto Dion esperava no carro. Joe fez o check in no balcão de mármore da recepção e assinou o livro de registro com uma caneta-tinteiro de ouro entregue por um francês sisudo de sorriso radioso e olhos mortos como os de uma boneca. Recebeu uma chave de latão presa a um pedaço curto de cordão de veludo vermelho. Na outra ponta do cordão havia um pesado quadrado de metal dourado com o número de seu quarto: 509.
Na verdade, o quarto era uma série de quartos, com uma cama do tamanho do sul de Boston, delicadas cadeiras francesas e uma delicada escrivaninha francesa virada de frente para a vista do lago. Havia um banheiro privativo, sim senhor: era maior do que sua cela em Charlestown. O porteiro lhe mostrou onde ficavam os interruptores e como acender as lâmpadas e ligar os ventiladores de teto. Mostrou-lhe o closet de cedro no qual Joe podia pendurar as roupas. Mostrou-lhe o rádio, cortesia em todos os quartos, e isso fez Joe pensar em Emma e na grandiosa inauguração do Statler. Ele deu uma gorjeta ao porteiro, mandou-o sair e sentou-se em uma das delicadas cadeiras francesas para fumar um cigarro, admirando o lago escuro lá fora e o imenso hotel refletido no espelho-d’água, com seus incontáveis quadradinhos de luz enviesados na superfície escura, e se perguntou o que o pai estaria vendo naquele instante, o que Emma estaria vendo. Será que podiam ver a ele? Será que podiam ver o passado, o futuro, ou vastos mundos muito além da sua imaginação? Ou será que não viam nada? Porque eles não eram nada. Estavam mortos, eram pó, ossos dentro de uma caixa, e os de Emma nem sequer estavam conectados uns aos outros.
Temeu que fosse apenas isso. Não, não fez apenas temer. Sentado naquela cadeira ridícula, olhando pela janela para as janelas amarelas oblíquas refletidas na água negra, teve certeza. Ninguém morria e ia para um lugar melhor; aquele era o melhor lugar, porque você não estava morto. O paraíso não ficava no meio das nuvens; o paraíso era o ar dentro dos seus pulmões.
Olhou em volta para o quarto, para o pé-direito alto, o lustre acima da enorme cama, as cortinas grossas como a sua coxa, e teve vontade de sair de dentro da própria pele.
“Sinto muito”, sussurrou para o pai, muito embora soubesse que ele não podia escutá-lo. “Não era para ser...” Tornou a olhar em volta para o quarto. “Assim.”
Apagou o cigarro no cinzeiro e saiu.
Fora dos limites de Ybor, Tampa era uma cidade inteiramente branca. Dion lhe mostrou alguns lugares acima da rua Vinte e Quatro que ostentavam plaquinhas de madeira deixando bem clara sua posição em relação ao assunto. Uma mercearia na Décima Nona Avenida fazia questão de avisar que era PROIBIDA A ENTRADA DE CACHORROS E LATINOS, e uma drogaria em Columbus Drive tinha uma placa de PROIBIDO PARA LATINOS à esquerda da porta e outra de PROIBIDO CARCAMANOS à direita.
Joe olhou para Dion. “Tudo bem para você?”
“É claro que não, mas...
Dennis Lehane
O melhor da literatura para todos os gostos e idades