



Biblio VT




Em Delain, um reino muito distante, viviam o rei Rolando e seus dois filhos, Pedro e Tomás. Rolando não era exatamente o que se esperava de um rei. Apesar de se esforçar para não prejudicar seu povo, não conseguia realizar grandes obras. Na verdade, Rolando era um rei medíocre. Enquanto teve a seu lado a boa rainha Sacha, as coisas ainda corriam bem. Sacha preocupava-se com os habitantes de Delain e aconselhava Rolando para que tomasse medidas que aliviassem um pouco as dificuldades de seus súditos. A bondade de Sacha fez com que fosse amada pelo povo de Delain, mas alimentou também o ódio de um perigoso inimigo - Flagg, o feiticeiro do reino, não queria perder o poder sobre as decisões do rei.
Até que um dia a rainha Sacha morreu. Uma morte suspeita, muito suspeita. Mas isso não foi o suficiente para sossegar Flagg. Ele tinha outros planos.
O ambicioso feiticeiro queria dominar Delain e, para isso, precisava afastar qualquer um que estivesse em seu caminho. Para começar, era preciso livrar-se do tolo Rolando, depois afastar o jovem Pedro e levar ao trono o pequeno Tomás - ele sim, Flagg tinha certeza de conseguir controlar.
Com a habilidade de sempre, Stephen King constrói uma fantástica fábula, uma luta fascinante que envolve dragões, príncipes e feiticeiros demoníacos. Segundo o escritor, este romance surgiu da tentativa de criar algo que agradasse a sua filha, que não mostrava muito interesse pelo clima de terror que impregnava os livros do pai. Uma noite, no Maine, esta história começou a ser contada e King ficou feliz ao ver que conquistava uma nova leitora -Naomi King. Com sua fértil imaginação, o autor cria um encantador conto de fadas em que a coragem de um jovem príncipe é duramente testada.
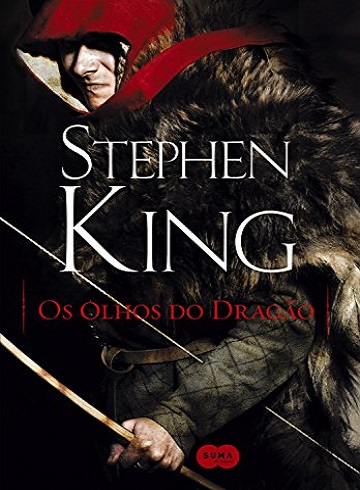
ERA UMA VEZ, num reino chamado Delain, um rei que tinha dois filhos. O reino era antiqüíssimo e tivera centenas, talvez milhares, de reis; depois de tanto tempo, nem mesmo os historiadores podem saber de tudo. Rolando, o Bom, não foi nem o melhor nem o pior dos reis a governar. Tudo fazia para não causar grandes males e, em geral, conseguia. Também não poupava esforços para realizar grandes obras; nisso, porém, ele não se saía tão bem. Era, pois, um rei muito medíocre; não esperava que, depois de morto, fosse lembrado por bastante tempo. Sua morte estava decerto próxima, pois já era velho, e seu coração fraquejava. Talvez lhe restasse um ano, talvez três. Todos os que o conheciam e todos os que lhe viam a face descorada e as mãos trêmulas, quando ele presidia a corte, concordavam que em cinco anos, no máximo, um novo rei seria coroado na grande Praça do Obelisco... cinco anos, quando muito, e com a graça de Deus. Daí, todos no reino, do mais rico barão e do mais elegante cortesão ao mais miserável dos servos e sua mulher maltrapilha, pensavam e falavam no futuro rei, o filho mais velho de Rolando, Pedro.
Mas havia um homem que meditava, planejava e ruminava algo diferente: como fazer com que, em vez de Pedro, viesse a ser coroado o mais moço, Tomás. Esse homem era Flagg, o mago da corte.
EMBORA ROLANDO FOSSE Velho — Dizia ter 70 anos, mas com toda a certeza tinha mais —, seus filhos eram jovens. Casara-se tarde, por não ter achado nenhuma mulher a seu gosto e porque sua mãe, a grande Rainha-Mãe de Delain, sempre parecera imortal a Rolando e a todos os demais — inclusive a ela própria. Ela governara o reino por quase 50 anos, e eis que certo dia, à hora do chá, levou à boca um limão recém-cortado, para aliviar uma tosse renitente que lhe incomodava havia uma semana ou mais. À hora daquele chá, um malabarista, para distração da Rainha-Mãe e sua respectiva corte, exibia suas prestidigitações com cinco bolas de cristal habilmente fabricadas. No exato instante em que a rainha pôs na boca a fatia de limão, o prestidigitador deixou cair um dos globos de vidro, que, com um forte estrondo, se espatifou no piso ladrilhado do grande.' salão real da ala leste. A rainha assustou-se. A fatia de limão desceu-lhe à garganta, entalou-se e, em poucos minutos, ela morreu engasgada. Quatro dias depois, celebrou-se a coroação de Rolando, na Praça do Obelisco. O malabarista não assistiu à cerimônia: fora decapitado na guilhotina, do outro lado do Obelisco, três dias antes.
Um rei sem herdeiros deixa todo mundo nervoso, principalmente se, aos 50 anos, está perdendo os cabelos. Era, pois, da maior conveniência que Rolando se casasse logo, e logo fizesse um herdeiro. Seu conselheiro íntimo, Flagg, fez-lhe ver o fato muito claramente. Observou-lhe também que, com essa idade, poucos anos lhe restavam para gerar um filho no ventre de uma mulher. Flagg aconselhou-o a arranjar logo uma esposa e a desistir de esperar por uma dama nobre de seu agrado. Se uma dama nessas condições não se fizera presente antes de ele chegar aos 50, observou Flagg, provavelmente não apareceria nunca.
Rolando percebeu a sensatez do argumento e concordou, sem desconfiar que Flagg, com seu cabelo escorrido e sua cara macilenta, quase sempre oculta sob um capuz, conhecia seu segredo mais profundo: que, se ele nunca encontrara uma mulher a seu gosto, era porque, na verdade, jamais tinha gostado de mulher. As mulheres perturbavam sua. paz de espírito. Além disso, ele jamais gostara do ato de procriar, que também o inquietava.
Mas viu sensatez no conselho do mago e, seis meses depois do funeral da Rainha-Mãe, o reino assistiu a um acontecimento bem mais feliz — o enlace do rei Rolando com Sacha, a futura mãe de Pedro e de Tomás.
Rolando não era nem amado nem odiado em Delain. Sacha, no entanto, conquistou a afeição de todos. Quando morreu ao dar à luz o seu segundo filho, o reino mergulhou no mais fechado luto, que durou um ano e um dia. Ela fora uma das seis possíveis noivas que Flagg sugerira ao rei. Rolando não conhecia nenhuma dessas mulheres, todas de igual fortuna. Eram de sangue nobre, apesar de nenhuma ser de família real, todas elas eram dóceis, meigas e tranqüilas. Flagg não sugeriu nenhuma capaz de substituí-lo como voz mais próxima dos ouvidos do rei. Rolando escolheu Sacha porque, de todas elas, parecia a mais dócil e tranqüila, e a menos capaz de causar sustos. E, assim, eles se casaram. Sacha, vinda do Baronato do Oeste (na verdade um pequenino feudo), tinha então 17 anos, 33 menos que o marido. Nunca tinha visto um homem sem ceroulas antes da noite de núpcias. Nessa ocasião, ao ver-lhe o pinto murcho, perguntou, com muito interesse:
— O que é isso, esposo?
Se tivesse dito algo diferente, ou dito o que disse em outro tom de voz, o desenrolar daquela noite — e de toda esta história — poderia ter tomado um outro rumo; apesar da bebida especial que Flagg lhe deva uma hora antes, no fim das bodas, Rolando poderia simplesmente ter batido em retirada. Mas, naquele instante, ele a viu exatamente como era — praticamente uma menina-moça, que sabia ainda menos do que ele sobre o ato de fazer filhos — e observou que sua boca era delicada, e começou a amá-la, como todos em Delain acabariam por fazê-lo.
— É o ferro do rei — respondeu ele.
— Não parece ferro — comentou Sacha, duvidosa.
— É que ainda não está forjado — disse ele.
— Ah — comentou ela. — E onde fica a forja?
— Basta a senhora confiar em mim — disse ele, deitando na cama com ela — e eu lhe mostrarei, pois ela veio com a senhora do Baronato do Oeste, só que a senhora não sabe disso.
O POVO DE DELAIN amou-a porque ela era boa e generosa. Foi a rainha Sacha que criou o Grande Hospital, foi a rainha Sacha que achou tão cruel o açulamento de ursos na Praça que o rei Rolando acabou por proibir essa prática, foi a rainha Sacha que pleiteou a Remissão dos Impostos do Rei no ano da grande seca, quando até as folhas da Árvore Grande e Venerável amarelaram. E Flagg conspirou contra ela?, perguntarão vocês. A princípio, não. Em sua opinião, aquilo tudo era trivial, pois ele era um mago de verdade e vivera muitas centenas de anos.
Até permitiu que passasse a Remissão dos Impostos, já que no ano anterior a armada de Delain desbaratara os piratas anduanos, que por mais de 100 anos tinham flagelado a costa meridional do reino. O crânio do rei-pirata anduano, fincado na ponta de uma estaca junto aos muros do palácio, arreganhava um riso tenebroso, e o tesouro de Delain transbordava de despojos recuperados. Em matérias de vulto, em assuntos de Estado, era Flagg que tinha os ouvidos de Rolando, e a princípio Flagg se dava por contente.
EMBORA ENAMORADO DA ESPOSA, Rolando nunca chegou a gostar do ato que, aprazível para a maioria dos homens, tanto gera o mais humilde aprendiz de cozinheiro quanto o herdeiro do mais elevado trono. Ele e Sacha dormiam em quartos separados. As visitas não se davam mais de cinco ou seis vezes por ano, e havia ocasiões em que nenhum ferro saía da forja, mesmo com o crescente poder das poções de Flagg e com a indefectível meiguice de Sacha.
Mas, quatro anos depois do casamento, Pedro foi gerado no leito da rainha. Nessa única noite, Rolando não precisou da poção de Flagg, que era verde espumante e sempre lhe dava uma sensação estranha na cabeça, como se fosse enlouquecer. Nesse dia, ele estivera em suas reservas de caça com 12 de seus homens. Caçar era a atividade preferida de Rolando, com os cheiros da floresta, a pungência vivificante do ar, o som da trompa e a vibração do arco, quando urna flecha partia com trajetória inexorável e certeira. A pólvora já era conhecida; porém, em Delain, caçar com armas de fogo era tido como algo mesquinho e desprezível.
Sacha estava lendo na cama, quando. Rolando, cujo semblante barbudo e corado se iluminara, dirigiu-se a ela, que pousou o livro no colo e escutou embevecida a história que ele lhe contou, gesticulando com as mãos. Perto do final, ele fez o movimento de puxar para mostrar como retesara o arco e disparara o Martelo do Inimigo, a grande flecha de seu pai, sobre o pequeno vale. Ela, então, riu, bateu palmas e ganhou-lhe o coração.
As reservas do rei estavam quase despovoadas. Naquele tempo, já era raro encontrar nelas um cervo de tamanho razoável, e não havia mais memória de alguém ter visto um dragão. A maioria dos homens teria achado graça se lhes sugerissem que ainda poderia haver criaturas místicas naquela floresta pacata. Mas, naquele dia, faltando uma hora para o pôr-do-sol, quando Rolando e seu grupo já estavam para voltar, foi exatamente o que encontraram... ou o que os encontrou.
Com grande estardalhaço, o dragão irrompeu pelo matagal; suas escamas rebrilhavam em tom esverdeado, e suas ventas, cobertas de fuligem, fumegavam. Não era um filhote, mas um macho quase em ponto de primeira muda. A maior parte dos homens ficou aturdida, incapaz de sacar uma flecha ou mover-se do lugar.
O dragão fitou os caçadores, seus olhos normalmente verdes tornaram-se amarelos, e suas asas ruflaram. Não havia perigo de ele fugir voando — seriam necessários pelo menos mais 50 anos e duas mudas para haver asas possantes e capazes de sustentá-lo em vôo —, mas os ligamentos infantis que prendem as asas ao corpo de um dragão até seus dez ou 12 anos já tinham caído, e um só adejo produziu tamanha ventania que derrubou da sela o caçador da frente, cuja trompa lhe voou da mão.
Rolando foi o único a não se petrificar e, embora muito modesto para gabar-se com Sacha, houve autêntico heroísmo em suas ações subseqüentes, bem como entusiasmo de esportista no lance final. O dragão provavelmente teria assado viva a maior parte do grupo, não fora a rápida ação de Rolando. Ele esporeou o cavalo, fazendo-o avançar uns cinco passos, e encaixou sua grande flecha. Puxou e disparou. A flecha atingiu certeiramente o alvo — aquela parte mole abaixo da garganta dos dragões, semelhante a uma guelra, por onde o ar é aspirado para alimentar o fogo. O bicho caiu morto, expelindo um último jato de chama que incendiou todas as moitas ao redor. Rapidamente, os cavaleiros trataram de apagar o fogo, uns com água, uns com cerveja, vários deles com urina — aliás, pensando bem, a maior parte da urina era cerveja mesmo, pois Rolando, quando saía à caça, ia abastecido de uma grande quantidade de cerveja, e não era econômico com ela.
Em cinco minutos, o incêndio estava extinto e em 15, o dragão fora estripado. Ainda teria sido possível ferver uma chaleira nas narinas fumegantes, quando as tripas foram descarregadas no chão. O coração, de nove compartimentos, ainda gotejante, foi levado a Rolando, com grande cerimônia. Ele o comeu cru, como era o costume, e achou-o delicioso. Só lamentou a triste sina de que quase certamente jamais teria ocasião de comer outro.
Foi, talvez, o coração do dragão que o pôs tão forte naquela noite. Ou somente a alegria da caçada e saber que agira rapidamente e com sangue-frio, quando todos os demais ficaram aturdidos em suas selas (menos, é claro, o caçador da frente, que caíra assustado de costas no chão). Fosse qual fosse a razão, o certo é que, quando Sacha bateu palmas e exclamou: “Bravo, meu valente esposo!”, ele praticamente voou em cima dela. Sacha saudou-o com os olhos abertos e um sorriso que espelhava o seu próprio triunfo. Foi essa a primeira e única vez que Rolando desfrutou o abraço da esposa em estado sóbrio. Nove meses mais tarde — um mês para cada cavidade do coração do dragão — nasceu Pedro, naquela mesma cama, e o reino rejubilou — já havia um herdeiro do trono.
VOCÊS DEVEM ESTAR pensando — se é que se deram ao trabalho de pensar no assunto — que, depois do nascimento de Pedro, Rolando não quis mais saber da estranha poção verde de Flagg. Não. Ele, de vez em quando, continuava a tomá-la. Era porque amava Sacha e queria agradá-la. Há lugares em que se imagina que somente os homens tiram prazer do sexo, e que as mulheres agradeceriam ser deixadas em paz. No entanto, o povo de Delain não adotava essa idéia esdrúxula — entendia que a mulher experimenta um prazer normal nesse ato, que produz as criaturas mais adoráveis da Terra. Rolando sabia que nesse terreno não dedicava à mulher a atenção que deveria, mas resolveu ser o mais atencioso que pudesse, ainda que isso significasse ter que tomar a poção de Flagg. Este era o único que sabia quão espaçadamente o rei comparecia ao leito de sua rainha.
Uns quatro anos depois do nascimento de Pedro, no dia de Ano-Novo, uma grande nevasca se abateu sobre Delain. Foi a maior, exceto uma, de que se tem memória — da outra falarei mais tarde.
Obedecendo a um impulso que não soube explicar nem a si mesmo, Flagg preparou para o rei uma infusão de força dupla — algo no vento talvez o impelisse a isso. Normalmente, o rei teria feito uma careta àquele gosto horrível e, talvez, a pusesse de lado, mas a excitação da tormenta fizera com que a festa de Ano-Novo fosse esfuziante, e Rolando se embebedasse a valer. O fogo vivo da lareira lembrava-lhe o último estertor explosivo do dragão, e ele brindara um sem-número de vezes a cabeça suspensa na parede. Assim, emborcou de um só gole a poção verde, e uma luxúria diabólica tomou conta dele. De imediato, deixou o salão de jantar e foi visitar Sacha.
Ao fazer amor com ela, machucou-a.
— Por favor, esposo — ela exclamou, soluçando.
— Desculpe — ele resmungou, e bzzz... caiu num sono profundo do lado dela e permaneceu insensível durante as 20 horas seguintes. Ela nunca esqueceu o cheiro estranho que havia no hálito dele naquela noite. Era um cheiro de carniça, um cheiro de morte. O que, se perguntou ela, teria ele andado comendo... ou bebendo?
Nunca mais Rolando voltou a tomar o elixir de Flagg, mas Flagg se deu por satisfeito. Nove meses depois, Sacha deu à luz o seu segundo filho, Tomás. Ao dar-lhe a vida, morreu. Naturalmente, essas desgraças acontecem, e, embora todos se entristecessem, ninguém chegou a se espantar. Julgavam saber o que tinha acontecido. Mas as únicas pessoas do reino a conhecer as verdadeiras circunstâncias da morte de Sacha eram Ana Crookbrows, a parteira, e Flagg, o mago do rei. A paciência de Flagg com a intromissão de Sacha finalmente se esgotara.
PEDRO SÓ TINHA cinco anos quando a mãe morreu, mas não deixou de lembrar-se dela com carinho. Em sua memória, ela era doce, terna, carinhosa e compassiva. Mas cinco anos é ainda uma tenra idade, e as lembranças dele, em sua maioria, não eram muito precisas. Havia, contudo, uma que ele guardava claramente — era uma censura que ela lhe fizera. Bem mais tarde, essa lembrança veio a ser vital para ele. Foi com relação a um guardanapo.
Em cada primeiro dia do quinto mês, realizava-se na corte um banquete para celebrar os plantios da primavera. No seu quinto ano, Pedro teve, pela primeira vez, permissão para participar. O costume mandava que Rolando sentasse à cabeceira, o herdeiro do trono à sua direita, e a rainha à outra extremidade da mesa. A conseqüência prática era que, durante a ceia, Pedro estaria longe dela, por isso, Sacha instruiu-o cuidadosamente sobre como deveria comportar-se. Queria que ele causasse boa impressão e se mostrasse bem-educado. E, é claro, sabia que durante a refeição ele estaria entregue a si mesmo, já que o pai não tinha idéia do que fossem boas maneiras.
Alguém poderá perguntar por que a missão de ensinar a Pedro boas maneiras era exercida por Sacha. O menino acaso não tinha uma governanta? (Tinha; duas, por sinal.) Não havia serviçais com funções inteiramente dedicadas ao pequeno príncipe? (Um batalhão deles.) Não era difícil fazer com que essa gente cuidasse de Pedro, mas sim mantê-la longe dele. Sacha queria educá-lo sozinha, o quanto fosse possível. Tinha idéias bem definidas sobre como o filho devia ser criado. Amava-o ternamente e tinha seus próprios motivos egoístas para querê-lo junto a si. Mas também compreendia que tinha uma grande e solene responsabilidade na questão da formação de Pedro. O menino seria rei um dia e, mais que tudo, Sacha queria que ele fosse bom. Um bom menino, ela pensava, haveria de ser um bom rei.
Os grandes banquetes do Salão Real não eram lá muito refinados, e a grande maioria das babás não ficaria muito preocupada com os modos do pequeno à mesa. Ora, ele vai ser rei!, diriam, um pouco escandalizadas diante da idéia de que deveriam corrigi-lo em tais insignificâncias. Que mal faz que ele entorne a molheira? Que mal faz se ele baba em sua gola de rufos, ou mesmo se limpa as mãos nela? Pois não é verdade que nos velhos tempos o rei Alão às vezes vomitava no prato e depois mandava o bobo da corte “tomar aquela boa sopa quente”? E o rei João acaso não costumava decepar com os dentes as cabeças de trutas vivas e enfiar os corpos agitados nos corpetes das mocinhas que o serviam? Não irá este banquete acabar, como quase todos os demais, com os comensais atirando comida uns nos outros, por cima da mesa?
Decerto que sim, mas quando as coisas descambassem para o estágio da guerra de comida, ela e Pedro já teriam se retirado há muito. O que preocupava Sacha era a indiferença do “que-mal-faz?”. Achava que esta era a pior idéia que se poderia incutir na cabeça de um menino destinado a ser rei.
Assim, Sacha instruiu Pedro cuidadosamente e observou-o com muita atenção na noite do banquete. E, mais tarde, quando ele se deitou sonolento em sua cama, falou-lhe.
Sendo uma boa mãe, começou por felicitá-lo carinhosamente pelo seu comportamento e seus bons modos — o que era justo, porque haviam sido geralmente exemplares. Mas ela sabia que ninguém iria corrigi-lo no que ele falhasse, a menos que ela própria o fizesse, e sabia que tinha de ser agora, nesses poucos anos em que ele a idolatrava. Assim, ao encerrar os elogios, disse:
— Pedrinho, você fez uma coisa errada que eu não quero que se repita. Pedro, deitado na cama, olhava-a solenemente com seus olhos azul-escuro.
— O que foi, mãe?
— Você não usou o guardanapo — comentou ela. — Deixou-o dobrado ao lado do prato, e isso me entristeceu. Comeu o frango assado com as mãos, e fez bem, porque é assim que os homens fazem. Mas, quando você largou o frango, limpou os dedos na blusa, e isto não está certo.
— Mas papai... e o sr. Flagg... e os outros nobres...
— Dane-se Flagg, e danem-se todos os nobres de Delain! — exclamou ela com tanta veemência, que Pedro encolheu-se um pouco na cama. Sentiu-se amedrontado e envergonhado de ter feito florirem aquelas rosas no rosto dela. — O que o seu pai faz está certo, porque ele é o rei, e o que você fizer quando for rei sempre estará certo. Mas Flagg não é o rei, por mais que tivesse vontade de ser, e os nobres não são reis, e você ainda não é rei, mas somente um rapazinho que esqueceu a sua boa educação.
Ela viu que ele estava assustado. Sorriu e pousou-lhe a mão na testa.
— Acalme-se, Pedro — disse. — É uma coisa pequena, mas ainda assim importante, porque você será rei um dia. Agora vá pegar a sua lousa.
— Mas é hora de dormir...
— Dane-se a hora de dormir também. O sono pode esperar. Vá pegar a sua lousa. Pedro apressou-se em buscar a lousa.
Sacha pegou o giz atado à beira da lousa e traçou caprichosamente quatro letras de forma.
— Sabe ler esta palavra, Pedro?
Pedro fez que sim. Já sabia ler algumas palavras e conhecia quase todas as “letras grandes”, Aquela era uma das palavras que ele sabia.
— Está escrito DEUS.
— Isso mesmo. Agora olhe esta outra. São só três letras.
Dessa vez, Pedro teve de se esforçar mais um pouco, porém acabou por exclamar, entusiasmado:
— Já sei, mamãe. É cão.
— Pois é. Cão. — A tristeza na voz dela logo esfriou o entusiasmo de Pedro. A mãe apontou as duas palavras. — São estas as duas naturezas do homem. Nunca se esqueça disso, porque você será rei um dia, e os reis se tomam grandes e fortes. Tão grandes e fortes quanto os dragões em sua nona muda.
— Papai não é grande nem forte — objetou Pedro.
De fato, Rolando era baixote e tinhas as pernas arqueadas. Além do mais, ostentava um barrigão por causa de muita cerveja e hidromel que já consumira. Sacha sorriu.
— Ele é, sim. Os reis crescem invisivelmente, Pedro, e isso acontece de repente, no momento em que empunham o cetro e com a imposição solene da coroa na Praça do Obelisco!
— É mesmo? — Pedro arregalou os olhos.
Pareceu-lhe que a conversa se afastara muito da sua omissão em usar o guardanapo no banquete, mas ele não lamentou ver um assunto tão embaraçoso esquecido em favor de outro, tão tremendamente interessante. De mais a mais, já resolvera nunca mais esquecer de usar o guardanapo — se isso era importante para a mãe, era importante para ele.
— É assim, sim. Os reis crescem e ficam enormes, e é por isso que têm de ter muito cuidado, porque uma pessoa muito grande pode esmagar outras menores com os pés, simplesmente andando, ou se virando, ou sentando de repente no lugar errado. Os maus reis fazem isso muitas vezes. Penso que mesmo os bons reis não conseguem evitar isso vez por outra.
— Acho que não estou entendendo...
— Então escute mais um pouco. — Bateu outra vez com o dedo na lousa. — Nossos pregadores dizem que a nossa natureza provém em parte de Deus e em parte do Velho Chifrudo. Sabe quem é o Velho Chifrudo, Pedro?
— E o diabo.
— Pois é. Mas existem poucos diabos fora das histórias inventadas, Pedrinho. O comum é as pessoas ruins serem mais parecidas com os cães do que com os diabos. Os cães gostam de brincar, mas são estúpidos, e é o que acontece com a maioria dos homens e das mulheres quando se embriagam. Os cães, quando agitados e confusos, tendem a morder; os homens, quando agitados e confusos, tendem a brigar. Os cães são bons animais de estimação porque são leais, mas um homem, se não é mais do que um animal de estimação, é um mau homem, penso eu. Os cães podem ser valentes, mas eles também podem ser covardes que uivam no escuro ou fogem do perigo com o rabo entre as pernas. Um cão está tão pronto a lamber a mão de um dono mau quanto a de um dono bom, porque não sabe a diferença entre bom e mau. Um cão come restos, vomita a parte que o seu estômago rejeita, depois volta a comer mais.
Calou-se por um momento, talvez pensando no que estaria a se passar no salão do banquete àquela mesma hora — homens e mulheres rindo a bandeiras despregadas no entusiasmo complacente dos bêbados, atirando comida uns nos outros e, às vezes, virando de lado para vomitar no chão, sem nenhuma cerimônia, junto à cadeira. Rolando não era diferente, e isso às vezes a entristecia, mas ela não se queixava nem o censurava. Era o seu jeito. Para agradá-la, ele talvez prometesse emendar-se, talvez até cumprisse a promessa, mas depois não seria mais o mesmo homem.
— Entendeu essas coisas, Pedro? Pedro fez que sim.
— Bom! Agora, me diga — inclinou-se para ele. — Os cães usam guardanapo? Humilhado e envergonhado, Pedro baixou os olhos sobre a colcha e sacudiu a cabeça. Afinal, a conversa não se desviara tanto quanto ele imaginara. Talvez porque a noite fora muito cheia e porque agora estava muito cansado, lágrimas subiram-lhe aos olhos e desceram-lhe pelo rosto. Ele lutou contra os soluços que queriam explodir. Trancou-os no peito. Sacha percebeu e admirou-o por isso.
— Não chore por causa de um guardanapo, meu amor — disse Sacha —, pois não foi essa a minha intenção. — Levantou-se, o ventre redondo, pois o parto de Tomás estava muito próximo. — No mais, seu comportamento foi exemplar. Qualquer mãe do reino estaria orgulhosa de um filhinho que se conduziu tão bem, e meu coração está cheio de admiração por você. Eu só lhe digo isso porque sou mãe de um príncipe. Às vezes, é difícil, mas isso não pode ser modificado e, sinceramente, eu não mudaria nada se pudesse. Mas lembre-se de que um dia vidas dependerão de cada movimento que você fizer acordado; até poderão depender de sonhos que lhe venham no sono. Talvez vidas não dependam de você usar ou não o guardanapo depois do frango assado... mas pode ser que sim. Pode ser. Às vezes, vidas dependem de menos que isso. Tudo o que lhe peço é que em tudo o que você faça tente lembrar o lado civilizado da sua natureza. O lado bom, o lado de Deus. Você me promete, Pedro?
— Prometo.
— Então, está tudo bem. — Ela beijou-o suavemente. — Felizmente eu sou jovem e você é jovem. Falaremos mais dessas coisas quando você tiver mais entendimento.
Nunca chegaram a fazê-lo, mas Pedro jamais esqueceu a lição e sempre usou seu guardanapo, mesmo quando à sua volta os outros não usavam.
E, ASSIM, SACHA MORREU.
Pouco mais ela aparece nesta história, porém há ainda algo a seu respeito que vocês devem saber: Sacha tinha uma casa de boneca. Era uma casa de boneca muito grande e muito linda, quase um castelo em miniatura. Chegada a época do casamento, Sacha reuniu todo o ânimo que pôde, mas sentia-se triste por abandonar tudo e todos na grande mansão do Baronato do Oeste onde crescera — e um pouco nervosa também. Disse à mãe:
— Eu nunca me casei antes e não sei se vou gostar.
De todos os brinquedos infantis que deixou para trás, o que mais lamentava era a casa de boneca que tinha desde pequenina.
Rolando, que era um homem bom, de algum modo descobriu isso e, embora também se sentisse nervoso pensando no futuro (afinal, ele tampouco se casara antes), achou tempo para encarregar Quentin Ellender, o maior artífice do reino, de construir para a mulher uma nova casa de boneca.
— Quero que seja a melhor casa de boneca que uma mocinha já tenha possuído — disse a Ellender. — Quero que ela a veja e logo se esqueça para sempre de sua antiga casa de boneca.
Como certamente vocês sabem muito bem, se é que Rolando teve mesmo essa intenção, disse uma grande bobagem. Ninguém jamais esquece um brinquedo que na infância lhe tenha proporcionado suprema felicidade, mesmo que esse brinquedo seja substituído por outro muito melhor. Sacha nunca esqueceu a sua velha casa de boneca, mas se impressionou bastante com a nova. Qualquer um que não fosse um completo idiota ficaria impressionado. Quem viu afirmou que era a obra-prima de Quentin Ellender, e talvez fosse mesmo.
Era uma casa de campo em miniatura, muito parecida com aquela em que Sacha vivera com seus pais nas colinas do Baronato do Oeste. Tudo nela era pequeno, mas tão perfeito que se podia jurar que funcionava de verdade... e quase tudo funcionava mesmo!
O fogão, por exemplo, realmente se aquecia e até cozinhava pequenas porções de comida. Quando se punha nele um pedaço de carvão não maior que uma caixa de fósforos, ele queimava um dia inteiro... e se um adulto imprudente enfiasse o dedo na cozinha e acontecesse de tocar no fogão com o carvão aceso, o resultado era uma dolorosa queimadura. Não havia torneiras nem vasos sanitários com descarga, porque o reino de Delain desconhecia essas facilidades — nem as conhece até hoje —, mas, com bastante cuidado, podia-se obter água por meio de uma bomba manual pouco maior que um dedo mindinho. Havia um quarto de costura com uma roca que fiava de verdade e um tear que tecia de verdade. A espineta na sala de visitas tocava realmente quando se acionavam as teclas com um palito, e a afinação era perfeita. As pessoas que viam essas coisas diziam que era um milagre e que, de algum modo, Flagg devia ter algo a ver com aquilo. Ouvindo tais histórias, Flagg sorria e não dizia nada. Não tivera nada a ver com a casa de boneca — na verdade, achava aquilo uma tolice —, mas sabia que nem sempre é preciso se vangloriar e dizer às pessoas o quanto se é formidável para ganhar fama. Às vezes, basta fazer cara de esperto e ficar calado...
Na casa de boneca de Sacha, havia autênticos tapetes de Kashamin, louça de porcelana verdadeira, o refrigerador realmente conservava as coisas frias. Os lambris da sala de visitas e do hall de entrada eram de pau-ferro finamente trabalhado. Todas as janelas tinham vidraças, e, nas grandes portas da frente, as bandeiras semicirculares eram de vitrais.
Levando-se tudo isso em conta, era a mais bela casa de boneca com que uma criança poderia ter sonhado. Quando, na festa do casamento, ela foi desvelada, Sacha bateu palmas com genuíno deleite e agradeceu ao marido o belo presente. Mais tarde, ela foi à oficina de Ellender e não só lhe agradeceu como se curvou profundamente diante dele, uma atitude extraordinária — naquele tempo, as rainhas não faziam reverências para simples artesãos. Rolando sentiu-se feliz, e Ellender, cuja visão enfraquecera perceptivelmente durante o projeto, comoveu-se.
Mas nem por isso Sacha esqueceu sua antiga e querida casa de boneca, por simples que fosse em comparação com a nova, e nesta não passava tantas tardes de chuva a brincar — mudando a posição dos móveis, acendendo o fogão e vendo fumegar a chaminé, fingindo que era servido um chá ou que se preparava um magnífico jantar em homenagem à rainha —, como passara antes, mesmo já mocinha de 15 ou 16 anos. Um dos motivos era muito simples. Não tinha graça preparar uma festa de mentirinha com a presença da rainha, agora que a rainha era ela mesma. E talvez esse único motivo fosse na verdade todos os motivos. Já era adulta e descobrira que ser adulta não era bem o que em criança imaginara como seria. Tinha imaginado que chegaria o dia em que tomaria a decisão consciente de simplesmente pôr de lado seus brinquedos, os jogos e os pequenos faz-de-conta. Agora descobrira que não era isso o que acontecia. Não, descobriu, o interesse é que simplesmente se desvanecia. Ia diminuindo, diminuindo, diminuindo, até que a poeira dos anos recobria os áureos prazeres da infância, e estes eram esquecidos.
PEDRO, O MENINO que um dia seria rei, tinha dúzias de brinquedos — não, para dizer a verdade, tinha milhares de brinquedos. Tinha centenas de soldadinhos de chumbo, com que travava grandes batalhas, e dúzias de cavalinhos-de-pau. Tinha jogos, bolas, cubos e bolas de gude. Tinha pernas de pau que o punham com um metro e meio de altura. Tinha um pula-pula mágico de mola com que podia dar saltos, e todo o papel de desenho que quisesse, num tempo em que o papel era dificílimo de fabricar e só os ricos podiam dar-se a esse luxo.
Mas de todos os brinquedos do castelo, o seu preferido era a casa de boneca da mãe. Não conhecera a outra, a do Baronato do Oeste, e para ele esta era o supra-sumo das casas de boneca. Ficava horas a fio sentado diante do brinquedo, quando lá fora chovia ou quando os ventos do inverno saíam uivando de uma garganta azul cheia de neve. Quando adoeceu com “tatuagem das crianças” (doença a que nós chamamos de catapora), mandou que um criado a trouxesse numa mesa especial que foi atravessada sobre a cama e brincou com ela quase sem parar até ficar bom.
Adorava imaginar pessoinhas ocupando a casa; às vezes, elas eram tão reais que ele chegava a vê-las. Batizava-as e falava por elas com diferentes vozes. Era uma família real. Havia o rei Rogério, que era valente e poderoso (embora não muito alto, e com pernas arqueadas) e que certa vez matara um dragão. Havia a bela rainha Sara, sua mulher. E havia o filhinho deles, Pedroca, que os amava e era amado por eles. Para não falar, naturalmente, num batalhão de criados que ele inventava para fazer as camas, alimentar o fogão, apanhar água, cozinhar e remendar as roupas.
Sendo menino, algumas das histórias que fantasiava quando brincava com a casa eram um pouco mais sanguinárias que as de Sacha em pequena brincando com a dela. Em uma, os piratas anduanos cercavam a casa por todos os lados, dispostos a entrar e massacrar a família. Travava-se um combate formidável. Morriam dúzias de piratas, mas, no fim, ainda sobravam muitos, e preparavam o ataque decisivo. Mas antes que o consumassem a Guarda Real — este papel era representado pelos soldadinhos de chumbo — chegava e matava até o último dos perversos malfeitores anduanos. Numa outra história, um enxame de dragões irrompia de uma mata próxima (geralmente, a mata era debaixo do sofá de Sacha, junto à janela), querendo incendiar a casa com seu hálito de fogo. Mas Rogério e Pedroca atacavam com seus arcos e matavam todos eles. “Até que o solo ficou negro do seu sangue repulsivo”, contou Pedro nessa noite à mesa do jantar ao rei seu pai, o que Rolando aprovou com grandes gargalhadas.
Depois que Sacha morreu, Flagg foi dizer a Rolando que não achava adequado um rapaz brincar com casa de boneca. Talvez isso não o tornasse um maricas, disse Flagg, mas também podia ser que o fizesse. O certo era que não cairia bem se a história chegasse aos ouvidos do povo. E histórias como aquelas sempre acabavam chegando. O castelo era cheio de criados. Criados viam tudo, e eram dados a mexericos.
— Mas ele só tem seis anos — disse Rolando, pouco à vontade.
Flagg, com sua cara branca e encovada oculta sob o grande capuz, e com suas bruxarias, sempre lhe causava mal-estar.
— Seis anos é idade bastante para instruir um rapaz no curso do que ele irá seguir, Majestade — disse Flagg. — Pense bem no caso. O julgamento de Vossa Majestade será justo nisso, como é em tudo o mais.
Pense bem no caso, disse Flagg, e foi o que fez o rei Rolando. Na verdade, creio que cabe dizer que ele nunca pensou tanto em algo nesses vinte e tantos anos de seu reinado em Delain.
A vocês isso deve parecer estranho, se é que já pensaram em todos os deveres que cabem ao rei — questões de vulto, como cobrar impostos sobre certas coisas ou revogá-los em outras, declarar ou não a guerra, perdoar ou condenar. Comparada a essas outras coisas, o que era, perguntarão vocês, a decisão de permitir ou não que um menino brincasse com uma casa de boneca?
Talvez nada, talvez muito. Quanto a isso, deixarei que tirem suas próprias conclusões. O que lhes posso dizer é que, dos reis a governar Delain, Rolando não foi o mais inteligente. Pensar bem sempre foi para ele um trabalho difícil. Fazia-o sentir como se uma porção de pedras rolasse dentro de sua cabeça. Fazia seus olhos lacrimejarem e suas têmporas latejarem. Quando pensava muito, seu nariz entupia.
Em menino, seus estudos de composição, matemática e história davam-lhe tanta dor de cabeça que, aos 12 anos, lhe fora permitido abandoná-los e ocupar-se no que fazia melhor, isto é, caçar. Ele se esforçava muito para ser um bom rei, mas tinha a sensação de que nunca seria bastante bom, ou inteligente, para solucionar os problemas do reino ou tomar as decisões mais acertadas, e sabia que, se agisse mal, o povo sofreria as conseqüências. Se tivesse ouvido Sacha quando ela, depois do banquete, falou a Pedro a respeito de reis, teria concordado totalmente. Os reis são mesmo maiores que as outras pessoas, e às vezes — muitas vezes — ele teria preferido ser menor. Se vocês alguma vez na vida já passaram por graves incertezas quanto à capacidade de cumprir ou não uma tarefa, saberão como ele se sentia. O que vocês talvez não saibam é que, depois de certo tempo, esses temores se transformam em um círculo vicioso. Mesmo que aquela sensação de incapacidade no início não proceda, ela, com o tempo, pode tornar-se verdadeira. Foi o que aconteceu com Rolando, que com o correr dos anos ficou cada vez mais dependente de Flagg. Às vezes, perturbava-o a idéia de que Flagg, sem ser rei no nome, era-o em tudo o mais — essas inquietações, porém, só lhe vinham à noite. De dia só sentia gratidão pela tutela de Flagg.
Se não fosse Sacha, Rolando provavelmente teria sido um rei bem pior do que de fato foi, e isto porque a pequena voz que às vezes escutava de noite, quando perdia o sono, continha muito mais de verdade do que as suas gratidões diurnas. Flagg estava mesmo governando o reino, e Flagg era um homem muito mau. Teremos de falar dele mais tarde, infelizmente, mas, por ora, vamos deixar que se vá, e que bons ventos o levem.
Sacha quebrara o poder de Flagg sobre Rolando. Os conselhos dela eram bons e práticos, e muito mais generosos e justos que os do bruxo. Ela jamais gostou de Flagg — poucos em Delain gostavam, e muitos tremiam só de ouvir o seu nome —, mas a sua aversão era branda. Seus sentimentos teriam sido bem diferentes se soubesse da vigilância atenta de Flagg sobre ela e de seu ódio crescente e venenoso.
CERTA VEZ, FLAGG realmente planejou envenenar Sacha. Foi depois que ela pediu a Rolando que perdoasse um par de desertores do exército, pois Flagg queria que fossem decapitados na Praça do Obelisco. Desertores, o mago argumentara, eram um mau exemplo. Se a um ou dois fosse permitido que escapassem sem pagar a plena punição, outros poderiam ser levados a imitá-los. O único modo de desencorajá-los, afirmou, era mostrar-lhes as cabeças daqueles que haviam tentado. Os possíveis candidatos olhariam aquelas cabeças escaveiradas com olhos arregalados e pensariam duas vezes sobre a seriedade do seu serviço ao rei.
Sacha, porém, por intermédio de uma de suas aias, tinha descoberto fatos que Rolando não sabia. A mãe do mais velho dos rapazes adoecera gravemente. Havia na família três irmãos e duas irmãs, todos pequenos. Todos poderiam ter morrido no intenso frio do inverno de Delain, se o rapaz não tivesse deixado seu acampamento, ido a sua casa e cortado lenha para a mãe. O mais moço fora junto porque era o melhor amigo do mais velho e seu irmão de sangue jurado. Sem o rapaz mais moço, levaria duas semanas para cortar a lenha necessária para manter a família aquecida até o fim do inverno. Os dois juntos, a toda a pressa, só demoraram seis dias.
Assim, as coisas mudavam de aspecto. Rolando amara muito a própria mãe e por ela teria morrido contente. Ele investigou e apurou que a história ouvida por Sacha era verdadeira. Apurou ainda que os desertores só tinham fugido depois que um sádico sargento-mor repetidamente se recusara a transmitir ao seu superior os pedidos de licença ex gratia dos rapazes, e que, assim que eles acabaram de cortar as 12 toras, tinham-se apresentado, mesmo sabendo que teriam de enfrentar a corte marcial e o machado do verdugo.
Rolando concedeu-lhes o perdão. Flagg curvou a cabeça, sorriu e disse apenas:
— A vontade de Vossa Majestade é a vontade de Delain, Sire.
Nem por todo o ouro dos Quatro Reinos teria deixado Rolando perceber o furor malvado que lhe cresceu no peito ao ver frustrado seu intento. O perdão de Rolando foi grandemente louvado em Delain, pois muitos de seus súditos sabiam dos fatos, e os que não sabiam foram logo informados pelos outros. O sábio e compassivo indulto concedido por Rolando aos dois foi lembrado quando outras resoluções não tão humanitárias (como de costume, também idéias de Flagg) foram decretadas. Para Flagg, isso não fez diferença. Ele os queria mortos e Sacha tinha interferido. Por que Rolando não se casara com outra? Não conhecera qualquer delas, e não gostava de mulheres em geral. Por que não outra? Bem, não importava. Flagg sorriu ante o perdão, mas naquele instante jurou secretamente que haveria de assistir ao funeral de Sacha.
Na noite em que Rolando assinou o indulto, Flagg desceu ao seu lúgubre laboratório no porão. Ali calçou uma luva grossa e tirou uma aranha venenosa de dentro de uma gaiola onde a conservara durante 20 anos, alimentando-a com filhotes recém-nascidos de camundongo. Todos os filhotes que ele dava à aranha estavam envenenados e agonizantes; Flagg fazia isso para aumentar a potência do veneno da própria aranha, que já era incrivelmente forte. A aranha era vermelha, cor de sangue e grande como uma ratazana. Seu corpo inchado palpitava de veneno; do ferrão, o veneno pingava em gotas claras que abriam buracos fumegantes no tampo da mesa de trabalho.
— Agora morra, minha bela, e mate uma rainha — sussurrou Flagg e esmagou a aranha na luva, feita de uma malha de aço mágica que resistia ao veneno; mesmo assim, naquela noite, quando ele foi dormir, a mão estava inchada, vermelha e latejante.
Do corpo esmagado e encolhido da aranha, o veneno esguichou na taça. Flagg derramou conhaque sobre a peçonha mortal e mexeu a mistura. Quando tirou a colher, a concha estava retorcida e deformada. Com um único gole, a rainha tombaria morta. Embora rápida, a morte seria dolorosíssima, pensou Flagg, com satisfação.
Sacha tinha por hábito tomar todas as noites um cálice de conhaque, porque muitas vezes custava a adormecer. Flagg tocou uma sineta para chamar o criado que iria levar a bebida à rainha.
Sacha nunca soube quão perto da morte estivera naquela noite.
Pouco depois de ter preparado a bebida mortal, antes que o criado batesse à porta, Flagg despejou-a no ralo que havia no chão, no centro do cômodo, e ficou a escutar enquanto a mistura descia chiando e borbulhando pelo cano. Tinha o rosto crispado de ódio. Quando o chiado do chão se extinguiu, ele atirou a taça de cristal com toda a força contra o canto mais distante da parede. Ela se estilhaçou como uma bomba.
O criado bateu e Flagg mandou-o entrar.
Apontou o lugar onde os cacos cintilavam.
— Eu quebrei um vaso — disse. — Limpe isso. Com uma vassoura, idiota. Toque os pedaços e terá do que se arrepender.
O MOTIVO DE ELE, no último instante, ter vertido o veneno no ralo foi ter-se dado conta do risco que corria. Se Rolando não amasse tanto sua jovem rainha, Flagg teria se arriscado. Mas imaginou que Rolando, em sua fúria desencadeada pela perda da mulher, não descansaria antes de encontrar o assassino, e viu a sua própria cabeça espetada no espigão que se erguia na ponta do Obelisco. Era um crime a ser vingado fosse quem fosse o criminoso. Chegaria ele ao assassino?
Flagg achou que era possível.
Afinal, caçar era a especialidade de Rolando.
Assim, Sacha escapou — dessa vez —, protegida pelo receio de Flagg e pelo amor do marido. Entretanto, Flagg ainda era ouvido pelo rei na maior parte dos assuntos.
Contudo, na questão da casa de boneca... neste assunto, pode-se dizer que Sacha levou a melhor, ainda que a essa altura Flagg tivesse conseguido desembaraçar-se dela.
NÃO MUITO TEMPO depois de Flagg fazer os seus infames comentários sobre casas de boneca e príncipes efeminados, Rolando entrou furtivamente na saleta de estar da rainha morta e ficou a observar o filho que brincava. Ficou parado junto à porta, com um vinco profundo na testa. Estava pensando com muito mais força do que de costume, e isso quer dizer que as pedras rolavam dentro de sua cabeça e ele tinha o nariz entupido.
Viu que Pedro estava usando a casa de boneca para contar histórias a si mesmo, para fazer de conta, e que as histórias que inventava não eram de modo algum histórias de efeminado. Eram histórias de sangue, de estrondos, de exércitos e dragões. Ou seja, eram histórias como as de que o próprio rei gostava. Descobriu em si mesmo um desejo vivo de juntar-se ao filho, de ajudá-lo a inventar histórias ainda mais interessantes, em que figurasse a casa de boneca com todo o seu fascinante conteúdo e com a sua família imaginária. E mais: viu que Pedro brincava com a casa de boneca de Sacha para mantê-la viva em seu coração, e isso mais do que tudo Rolando aprovou, porque sentia muita saudade da mulher. Às vezes, sentia-se tão só que quase chorava. É claro, reis não choram... mas uma ou duas vezes depois da morte de Sacha ele acordou com a fronha molhada. E então?
O rei saiu do quarto tão silenciosamente como entrara. Pedro não o viu. Rolando ficou a maior parte da noite acordado, meditando intensamente sobre o que vira, e, embora lhe fosse difícil suportar a desaprovação de Flagg, chamou-o na manhã seguinte em audiência privada, antes que a resolução pudesse enfraquecer, e disse-lhe que refletira detidamente sobre o assunto e decidira que Pedro teria permissão para brincar com a casa de boneca por quanto tempo quisesse. Disse acreditar que aquilo em nada prejudicava o menino.
Quando acabou de falar, recostou-se inquieto, à espera da contestação de Flagg. Mas não houve qualquer contestação. Flagg apenas franziu as sobrancelhas — Rolando mal o percebeu na sombra escura do capuz que sempre usava — e declarou:
— A vontade de Vossa Majestade, Sire, é a vontade do reino.
Pelo tom, Rolando compreendeu que Flagg considerava má a decisão, mas o tom dizia-lhe também que Flagg não insistiria na disputa. Sentiu um grande alívio ao ver o caso tão facilmente resolvido. Mais tarde, nesse mesmo dia, quando Flagg sugeriu que os camponeses do Baronato do Leste podiam suportar um aumento de impostos, apesar da seca do ano anterior que destruíra a maior parte das suas colheitas, Rolando apressou-se em concordar.
Na verdade, que o velho imbecil (pois era nessa conta que Flagg tinha Rolando em seus pensamentos mais secretos) contrariasse a sua vontade na questão da casa de boneca parecia ao bruxo algo de menor importância. O principal era o aumento de impostos do Baronato do Leste. Além disso, Flagg tinha um segredo mais profundo, um segredo com que ele se deliciava. Afinal, acabara por levar a cabo o assassinato de Sacha.
NAQUELE TEMPO, QUANDO uma rainha ou qualquer mulher de berço régio se acamava para ter um filho, era convocada uma parteira. Os médicos eram todos homens, e a nenhum homem era permitido estar junto a uma mulher quando ela estava para dar à luz. A parteira que trouxera Pedro ao mundo era Ana Crookbrows, do Terceiro Beco Sul. Ao chegar a hora de Sacha com Tomás, ela foi chamada novamente. Quando o segundo trabalho de parto de Sacha começou, Ana já passara dos 50 e era viúva. Ela própria tinha um filho que, aos 20 anos, contraíra a “moléstia do tremor”, que sempre matava suas vítimas em meio a dores terríveis, depois de alguns anos de padecimento. Ela amava muito o seu rapaz e, por fim, quando todos os recursos se tinham mostrado inúteis, recorreu a Flagg. Isso fora dez anos antes, nenhum dos príncipes havia nascido, e Rolando ainda era um solteirão régio. Flagg a recebeu em seus aposentos úmidos do porão, que ficavam perto das masmorras — durante a entrevista, a mulher, inquieta, pôde ouvir, algumas vezes, gritos perdidos dos que por anos a fio viviam privados da luz do sol. Se as masmorras estavam tão perto, as câmaras de tortura deviam ser igualmente próximas, pensou ela estremecendo. Nada no aposento de Flagg fazia com que se sentisse melhor. Havia no chão estranhos desenhos traçados em giz de várias cores. Quando ela piscava, os desenhos pareciam transformar-se. Em uma gaiola pendurada em longa corrente negra, um papagaio de duas cabeças grasnava de vez em quando em conversa consigo mesmo: uma cabeça falava, a outra respondia. Livros mofados olhavam sinistros para ela. Aranhas armavam teias em cantos escuros. Do laboratório, vinha uma mistura de estranhos odores químicos. Mesmo assim, de algum modo, ela gaguejou a sua história e, em seguida, esperou em aflita expectativa.
— Eu posso curar o seu filho — disse ele enfim.
O rosto feio de Ana Crookbrows, de alegria, transformou-se em algo de quase belo.
— Meu senhor! — arquejou ela, e não pôde pensar em mais nada; por isso repetiu: — Ó meu senhor!
Mas na sombra do capuz a face branca de Flagg permaneceu distante e pensativa, e ela sentiu medo novamente.
— O que você pagaria por tal milagre? — perguntou ele.
— Qualquer coisa — ela ofegou, e dizia a verdade. — Ó meu senhor Flagg, qualquer coisa!
— Eu preciso de um favor — disse ele. — Está disposta a fazê-lo?
— De todo o coração! Ainda não sei qual será, mas, quando chegar o momento, eu o farei.
Ana caíra de joelhos diante dele, e Flagg inclinou-se para ela. O capuz caíra para trás, e o rosto dele era terrível. Era a face branca de um cadáver, com buracos negros em lugar dos olhos.
— E se você recusar o que eu lhe pedir, mulher...
— Não recusarei! Ó meu senhor, não, não recusarei! Juro pelo nome do meu querido marido!
— Se é assim, está bem. Traga o seu filho amanhã, depois do escurecer.
Na noite seguinte, ela levou o coitado. Ele tremia e se sacudia, balançava a cabeça desordenadamente, revirava os olhos. Um fio de baba lhe escorria no queixo. Flagg serviu-lhe uma poção escura, cor de ameixa, num cálice.
— Mande que ele beba isto — disse. — Vai empolar-lhe a boca, mas mande que ele beba até a última gota. Depois suma da minha frente com o cretino.
Ela falou ao filho em voz baixa. Por um momento, os tremores do rapaz aumentaram quando ele quis assentir com a cabeça. Ele bebeu todo o líquido e, em seguida, dobrou-se aos gritos.
— Fora com ele — ordenou Flagg.
— Fora com ele! — gritou uma das cabeças do papagaio.
— Fora com ele, é proibido gritar aqui! — berrou a outra cabeça.
Ela o levou para casa, certa de que Flagg o tinha matado. Mas, no dia seguinte, o filho estava bom, totalmente curado da “moléstia do tremor”.
Passaram-se anos. Quando começaram os trabalhos do parto de Sacha com Tomás, Flagg chamou-a e cochichou-lhe ao ouvido. Estavam sozinhos no subterrâneo, mas mesmo assim era melhor que uma ordem tão medonha fosse cochichada.
Ana Crookbrows ficou lívida, mas lembrou-se das palavras de Flagg: Se você recusar...
E, depois, o rei não ia ter dois filhos? Ela só tinha um. E se o rei quisesse casar outra vez e ter outros mais, podia. Havia mulheres de sobra em Delain.
Assim, ela foi a Sacha e lhe disse palavras de encorajamento, e num momento decisivo uma faquinha faiscou-lhe na mão. Ninguém viu o pequeno corte que ela fez. Um pouco depois, Ana gritou:
— Força, minha rainha! Força, que a criança vem vindo!
Sacha fez força. Tomás saiu dela tão facilmente como um menino que desliza num escorregador. Mas a seiva vital de Sacha esvaiu-se no lençol. Dez minutos depois de Tomás vir ao mundo, a mãe estava morta.
E, assim, Flagg não se preocupou com a ridícula questão da casa de boneca. O que importava era que Rolando estava envelhecendo, não havia mais uma rainha intrometida para atravessar-se em seu caminho e, agora, em vez de um só, havia dois filhos entre os quais escolher. Pedro, decerto, era o mais velho, mas isso não tinha muita importância. Poderia ser afastado do caminho se, com o tempo, se mostrasse inadequado aos propósitos de Flagg. Era apenas um menino e não podia defender-se.
Eu já contei que Rolando, em todo o seu reinado, nunca pensou por mais tempo ou com mais força em nenhum outro assunto que não aquela questão especial — se Pedro devia ou não ter acesso à casa de boneca de Sacha, habilidosamente construída pelo grande Ellender. Conforme já disse, o resultado da sua reflexão foi uma decisão que foi de encontro aos intentos de Flagg. Já disse também que Flagg não deu muita importância ao fato.
Será mesmo? É o que vocês vão descobrir por si mesmos, depois de me ouvirem até o fim.
AGORA DEIXEMOS QUE se passem muitos e longos anos, tudo num piscar de olhos — uma das boas coisas das histórias é como o tempo passa depressa quando não há nada de muito interessante acontecendo. Na vida real é diferente e, talvez, isso seja bom. O tempo só passa depressa nas histórias, e o que é a história do mundo senão uma espécie de conto grandioso em que a passagem dos séculos substitui a passagem dos anos?
Durante aqueles anos, Flagg acompanhou atentamente os dois meninos — observava-os por cima dos ombros do rei que envelhecia, à medida que os filhos cresciam, calculando qual deles deveria ser o rei quando Rolando deixasse de sê-lo. Não lhe custou muito tempo decidir que devia ser Tomás, o mais moço. Quando Pedro andava pelos sete anos, ele concluiu que não gostava do menino. Quando Pedro tinha nove, Flagg fez uma estranha e desagradável descoberta: descobriu que tinha medo de Pedro.
O rapaz crescera forte, elegante e bonito. Tinha cabelos pretos e os olhos de um azul-escuro que é comum ao povo do Baronato do Oeste. Às vezes, quando olhava de repente para cima, com um certo meneio de cabeça, Pedro parecia-se com o pai. Fora isso, era filho de Sacha quase por inteiro, na aparência e no modo de ser. Diferente do pai atarracado com seu andar trôpego e gestos desengonçados (Rolando só era gracioso quando montado a cavalo), Pedro era alto e flexível. Gostava da caça e caçava bem, mas não fazia disso a sua vida. Gostava também de estudar — geografia e história eram as suas aulas prediletas.
Piadas deixavam o pai confuso e, muitas vezes, impaciente; na maioria das vezes o sentido tinha de ser-lhe explicado e, com isso, perdia toda a graça. O que divertia Rolando era quando os cômicos fingiam escorregar em cascas de banana, ou chocavam as cabeças, ou encenavam duelos de pastelões no Grande Salão Real. A bem dizer, coisas desse tipo eram o máximo a que chegava o senso de humor de Rolando. O espírito de Pedro era muito mais ágil e sutil, como fora o de Sacha, e muitas vezes suas ruidosas risadas juvenis enchiam o palácio, fazendo com que os criados sorrissem uns para os outros em sinal de aprovação.
Enquanto muitos meninos na posição de Pedro estariam bastante conscientes de seu lugar eminente na ordem das coisas para brincar com qualquer um alheio à sua classe, Pedro fez grande amizade com um garoto chamado Ben Staad, quando os dois tinham oito anos. A família de Ben não tinha pretensões à realeza e, embora André Staad, pai de Ben, pudesse arrogar-se um vestígio do Alto Sangue do reino pelo seu lado materno, não tinha direito de reivindicar nenhuma pretensão à nobreza. “Nobre rural” era provavelmente o termo mais generoso que se podia aplicar a André Staad, e “filho do fazendeiro” ao seu rapaz. Ainda assim, a família Staad, um dia próspera, topara com tempos difíceis e, embora pudesse haver escolhas mais extravagantes para o melhor amigo de um príncipe, muitas não poderia haver.
Conheceram-se na Festa Campestre dos Agricultores, quando Pedro tinha oito anos. A Festa Campestre era uma celebração anual que a maioria dos reis e rainhas via como uma grande maçada, quando muito; o costume era marcarem uma presença pro forma, beberem rapidamente o brinde tradicional e escapulirem, depois de desejar aos lavradores que se divertissem e agradecer-lhes por mais um ano de boas colheitas (também isso era parte do ritual, mesmo que as safras tivessem sido minguadas). Se Rolando fosse um rei dessa espécie, Pedro e Ben não teriam tido a chance de se conhecerem. Mas, como vocês já devem ter imaginado, Rolando adorava a Festa Campestre, cada ano esperava ansiosamente por ela e costumava ficar até o fim (mais de uma vez embebedou-se e saiu carregado, ressonando alto).
Por acaso, Pedro e Ben fizeram dupla na corrida de sacos de três pernas, e venceram... embora, no final, por diferença bem menor do que a princípio se previa. Estando quase seis etapas à frente, levaram um tombo violento e Pedro feriu o braço.
— Perdão, meu príncipe! — exclamou Ben. Estava pálido, e é possível que estivesse visualizando as masmorras (eu sei que a mãe e o pai dele estavam, enquanto olhavam aflitos de fora da raia; como se já não bastasse a falta de sorte, André Staad costumava resmungar, e os Staad não tinham mesmo nenhuma sorte); mas o mais provável é que simplesmente lamentasse o ferimento que imaginava ter causado, ou que se admirasse ao ver que o sangue do futuro rei era tão rubro quanto o dele.
— Não seja bobo — disse Pedro, impaciente. — A culpa foi minha, não sua. Eu fui desastrado. Levante-se logo. Eles estão nos alcançando.
Os dois meninos, transformados num único e desajeitado bicho de três pernas pelo saco ao qual a perna direita de Pedro e a esquerda de Ben tinham sido solidamente amarradas, conseguiram levantar-se e prosseguir, ziguezagueando, a corrida. Com a queda, porém, ambos tinham perdido o fôlego, e a grande vantagem que levavam reduzira-se a quase nada. Perto da linha de chegada, onde a multidão de lavradores (para não falar de Rolando, metido no meio deles, sem sentir o menor constrangimento ou achar que estava onde não devia) aplaudia delirantemente, dois robustos e suarentos rapazes camponeses começaram a se aproximar. Que nas últimas dez jardas da corrida eles iriam passar Pedro e Ben parecia quase inevitável.
— Vamos, Pedro! — berrou Rolando, sacudindo um enorme caneco de hidromel com tanto entusiasmo, que despejou a maior parte na própria cabeça sem sequer notá-lo. — Força nessas pernas, filho! Como uma lebre! Esses camponeses estão quase subindo na sua garupa!
A mãe de Ben pôs-se a se lamentar, amaldiçoando a sorte que fizera com que o filho formasse dupla com o príncipe.
— Se eles perdem, ele manda atirar o nosso Ben na mais funda das masmorras do castelo — gemia.
— Cale-se, mulher — disse André. — Ele não fará isso. Ele é um rei bom. Acreditava nisso, mas mesmo assim tinha os seus receios. Afinal, a sorte dos Staad era a sorte dos Staad.
Ben, entretanto, tinha desatado a rir. Não podia acreditar que estivesse rindo, mas estava.
— Como uma lebre, foi o que ele disse?
Pedro também se pôs a rir. As pernas doíam-lhe terrivelmente, o sangue escorria-lhe do braço e o suor lhe inundava o rosto, que estava ganhando uma interessante cor de ameixa, mas também não podia se conter.
— É, foi o que ele disse.
— Então vamos saltar!.
Não foi bem como lebres que eles cruzaram a linha de chegada; mais pareciam um estranho par de corvos aleijados. Foi um verdadeiro milagre que eles não caíssem e, de fato, não caíram. Desengonçadamente, os dois conseguiram dar três saltos. Com o terceiro, cruzaram a linha e desabaram no chão às gargalhadas.
— Lebre! — gritava Ben, apontando para Pedro.
— Lebre! — gritava Pedro, apontando para Ben.
Abraçaram-se, ainda rindo, e foram carregados nos ombros robustos de vários fazendeiros (André Staad era um deles, e sustentar o peso combinado de seu filho e do príncipe herdeiro foi algo que ele jamais esqueceu) para o lugar onde Rolando lhes dependurou fitas azuis nos pescoços. Depois, beijou-os rudemente nas bochechas e lhes derramou o resto do caneco nas cabeças, debaixo de frenéticos aplausos e gritos de urra dos camponeses. Nunca, nem mesmo na memória do mais velho homem ali presente naquele dia, fora disputada uma corrida tão extraordinária.
Os dois meninos passaram o resto do dia juntos e, logo se viu, ficariam contentes em passar juntos o resto de suas vidas. Como mesmo um menino de oito anos tem certos deveres (ainda mais se destinado à realeza), os dois não podiam ficar juntos todo o tempo que queriam, mas, quando podiam, ficavam.
Alguns torciam o nariz àquela camaradagem e comentavam que não ficava bem para o futuro rei ser amigo de um rapaz que era pouco mais que um camponês da província. A maioria, contudo, aprovava; mais de uma vez foi dito entre os que bebiam nas tavernas de Delain que Pedro herdara o melhor de dois mundos — a inteligência da mãe e o amor do pai pela gente comum.
Parecia não haver maldade em Pedro. Ele nunca passou pela fase de arrancar asas de moscas ou de chamuscar o rabo de cachorros para fazê-los correr. E houve o caso em que ele interveio na questão de uma égua que estava a ponto de ser sacrificada por Yosef, o chefe dos cavalariços do rei... e foi quando essa história chegou aos ouvidos de Flagg que o bruxo passou a temer o filho mais velho do rei, e a pensar que talvez não lhe restasse tanto tempo quanto imaginara para afastar o rapaz do caminho. Pois no episódio da égua de perna quebrada, Pedro demonstrou uma coragem e firmeza de resolução que não agradaram nem um pouco a Flagg.
PEDRO IA PASSANDO pelo pátio das cavalariças, quando viu uma égua atada ao tronco do celeiro principal. O animal mantinha levantada uma das patas traseiras. Enquanto Pedro olhava, Yosef cuspiu nas mãos e apanhou uma pesada marreta. Era evidente o que tencionava fazer. Pedro ficou estarrecido e apavorado. Correu até lá.
— Quem mandou você matar esse cavalo? — perguntou.
Yosef, um sessentão corpulento e vigoroso, era um agregado do palácio. Não era homem de aturar facilmente a interferência de um fedelho, príncipe ou não. Encarou Pedro com um olhar feroz e ameaçador para assustar o rapazinho. Pedro, então com apenas nove anos, ficou muito vermelho, mas não se acovardou. Pareceu-lhe ver nos mansos olhos castanhos do animal um olhar que dizia: Quem quer que seja, você é a minha única esperança. Por favor, faça o que puder.
— Meu pai, e o pai dele antes dele, e o pai dele antes dele — disse Yosef, compreendendo que tinha de dizer algo, gostando ou não gostando. — Foram eles que me mandaram. Um cavalo de perna quebrada não presta para vivente algum, e ainda menos para si mesmo. — Ergueu um pouco a marreta. — Você está vendo este malho como uma arma assassina, mas, quando for mais velho, vai entender casos como este... trata-se de um ato de misericórdia. Agora chegue para trás para não ser respingado.
Com as duas mãos, Yosef levantou a marreta.
— Largue isso — disse Pedro.
Yosef ficou pasmo. Ninguém jamais o tinha enfrentado desse modo.
— Epa! Epa! O que você está dizendo?
— Você me ouviu. Eu disse largue essa marreta.
Ao dizer essas palavras, a voz de Pedro engrossou. De repente, Yosef percebeu — percebeu mesmo, de verdade — que era o futuro rei que estava ali de pé no pátio empoeirado, ordenando. Se fosse Pedro que tivesse dito isso — se tivesse ficado ali parado na poeira se esgoelando: Largue isso, largue isso, estou mandando, eu vou ser o rei um dia, o rei, está ouvindo, portanto largue isso!, Yosef teria rido desdenhosamente, cuspido e acabado com a vida do cavalo manco com um único e potente giro dos braços musculosos. Mas Pedro não precisou dizer nada disso; a autoridade estava manifesta na sua voz e nos seus olhos.
— O seu pai vai saber disso, meu principelho — disse Yosef.
— E quando ele o souber por você, será pela segunda vez — respondeu Pedro. — Eu deixarei que você termine seu trabalho sem mais objeções, lorde cavalariço-mor, se eu puder fazer-lhe uma única pergunta e a sua resposta for sim.
— Faça a pergunta — disse. Yosef, quase a contragosto, estava impressionado com o menino. Quando Pedro disse a Yosef que seria o primeiro a contar ao pai o incidente, Yosef acreditou que ele o faria, a verdade pura brilhava nos olhos do garoto. Além disso, nunca fora chamado de “lorde cavalariço-mor”, e isso lhe agradara.
— O veterinário examinou esse animal? — perguntou Pedro. Yosef ficou estupefato.
— É essa a sua pergunta? É isso?
— É.
— Com mil demônios, não! — vociferou Yosef, e, vendo Pedro titubear, baixou a voz, agachou-se à frente do menino e procurou explicar. — Um cavalo com a perna quebrada não tem jeito, Alteza. Está liquidado. A perna nunca se emenda direito. Em geral dá envenenamento do sangue. O cavalo sofre horrivelmente. Horrivelmente. No final, o coração do coitado costuma estourar, ou ele tem febre cerebral e fica louco. Agora entende o que eu quis dizer quando falei que a marreta é misericórdia e não assassinato?
Pedro refletiu longa e gravemente, com a cabeça baixa. Yosef ficou calado, agachado diante dele numa posição de quase inconsciente deferência, prestando-lhe o pleno acatamento da espera.
Pedro levantou a cabeça e perguntou:
— Você disse que é o que todo mundo diz?
— Todo mundo, Alteza. Olhe, meu pai...
— Então vamos ver se o veterinário também diz...
— Ora... bolas! — berrou o cavalariço, e atirou a marreta longe. Ela foi parar dentro de um chiqueiro, onde bateu de cabeça na lama. Os porcos grunhiram, guincharam e o amaldiçoaram em seu latim porcino. Yosef, como Flagg, não estava acostumado a ser contrariado e não tomou conhecimento deles.
Pôs-se de pé e afastou-se, altaneiro. Pedro acompanhou-o com os olhos, confuso, convencido de que metera os pés pelas mãos e sabendo que corria o risco de uma bela surra por aquela trapalhada. Então, no meio do pátio, o cavalariço olhou para trás, e um ligeiro sorriso, entre carrancudo e relutante, abriu-se no seu rosto como um único raio de sol numa manhã nevoenta.
— Vá buscar o seu veterinário — disse ele. — Chame-o você mesmo, filho. Vai encontrá-lo na clínica de animais no final do Terceiro Beco Leste, se não me engano. Dou-lhe 20 minutos. Se até lá você não estiver de volta com ele, vou baixar a minha marreta no crânio dessa égua, príncipe ou não príncipe.
— Está bem, lorde cavalariço-mor! — exclamou Pedro. — Obrigado! E saiu chispando.
Quando voltou com o jovem cirurgião de cavalos, botando os bofes pela boca, Pedro estava certo de que a égua já estaria morta: o sol lhe dizia que 20 minutos se tinham passado três vezes. Mas Yosef, curioso, resolveu esperar.
Veterinária e tratamento de cavalos eram matérias muito novas em Delain, e o moço era apenas o terceiro ou o quarto a praticar o ofício, de modo que a expressão de ceticismo azedo no rosto de Yosef não era de espantar. Tampouco o médico de cavalos estava feliz por ter sido arrastado de sua clínica pelo suarento e atarantado príncipe, mas mostrou-se menos irritado quando viu que tinha um paciente. Ajoelhou-se junto do animal e delicadamente apalpou-lhe a pata quebrada, cantarolando pelo nariz enquanto o fazia. A certa altura, a égua fez um movimento como se algo que ele tocara lhe causasse dor.
— Quieta, minha velha — disse o veterinário calmamente —, bem quietinha.
A égua se aquietou. Pedro olhava aquilo tudo com o coração nas mãos. Yosef observava com a marreta encostada ao lado e os braços cruzados no peito. Sua opinião sobre o doutor melhorara um pouco. O sujeito era jovem, mas suas mãos se moviam com delicada perícia.
Finalmente, o veterinário balançou a cabeça e se pôs de pé, batendo a sujeira das mãos.
— E aí? — perguntou Pedro, ansioso.
— Acabe com ela — disse o doutor bruscamente a Yosef, sem dar a Pedro a menor atenção.
Yosef pegou rapidamente a marreta, pois não tinha esperado outra conclusão de toda aquela história. Mas a prova de que estava com a razão não lhe deu contentamento; a expressão acabrunhada no rosto do menino tocou-lhe direto o coração.
— Espere! — exclamou Pedro, e, embora seu rostinho estivesse cheio de aflição, havia de novo em sua voz aquele timbre profundo que o fazia parecer muito mais velho.
O veterinário olhou para ele espantado.
— Quer dizer que ela vai morrer de envenenamento do sangue? — perguntou Pedro.
— O quê? — falou o veterinário, olhando para Pedro com nova atenção.
— Ela vai morrer de envenenamento do sangue se for deixada viva? Ou o coração vai estourar? Ou ela vai ficar louca?
O veterinário estava visivelmente perplexo.
— Do que é que você está falando? Envenenamento do sangue? Não há envenenamento nenhum. Na verdade, a fratura está cicatrizando muito bem. — Olhou para Yosef com certo desdém. — Já ouvi essas lendas. Não há verdade nelas.
— Se é o que você pensa, tem muito o que aprender, meu jovem — disse Yosef. Pedro não tomou conhecimento da observação. Agora era ele que estava perplexo.
Perguntou ao jovem veterinário:
— Por que falou ao cavalariço para matar o animal, se ele pode ficar bom?
— Alteza — disse o veterinário, incisivo —, seria preciso aplicar-lhe cataplasmas todos os dias e todas as noites, durante um mês ou mais, para evitar que ocorra uma infecção. Poderia fazer-se isso, mas para quê? O bicho iria mancar para sempre. Um cavalo manco não pode trabalhar. Um cavalo manco não pode correr para que vadios apostem nele. Um cavalo manco só pode comer e comer e nunca fazer jus à sua ferragem. Portanto, deve ser morto.
Sorriu, satisfeito. Tinha provado a sua tese.
Yosef já se adiantava novamente com a marreta, mas Pedro disse:
— Eu cuidarei das cataplasmas. Se um dia ou outro eu não puder, Ben Staad o fará. E ela vai ficar boa porque vai ser a minha montaria, e eu vou cavalgá-la mesmo que ela manque tanto que me dê enjôo.
Yosef deu uma gargalhada e bateu nas costas do menino com tanta força que os seus dentes se entrechocaram.
— Seu coração é tão generoso quanto bravo, meu rapaz, mas fedelhos prometem facilmente e se arrependem sem pressa. Aposto como você vai ficar na intenção.
Pedro fitou-o calmamente.
— Eu disse e confirmo.
Instantaneamente, Yosef parou de rir. Olhou atentamente para Pedro e viu que o menino falava para valer... ou que pelo menos assim imaginava. Não havia nenhuma dúvida em sua fisionomia.
— Bem! Eu não posso ficar aqui o dia inteiro — disse o veterinário, voltando aos seus ares bruscos e importantes. — O meu diagnóstico está dado. Minha conta será apresentada ao Tesouro oportunamente... ou talvez Vossa Alteza queira pagá-la da sua mesada. Seja como for, o que decidirem não me diz respeito. Bom-dia.
Pedro e o chefe dos cavalariços olharam-no cruzar o pátio arrastando aos calcanhares uma longa sombra projetada pelo sol da tarde.
— É um borra-botas — disse Yosef quando o médico de cavalos passou do portão e já não podia ouvir-lhes as palavras nem, portanto, responder. — Ouça o que eu lhe digo, Alteza, e poupe-se uma grande decepção. Nunca houve caso de um cavalo que quebrasse a perna e não tivesse envenenamento do sangue. É a lei de Deus.
— Quero falar com meu pai sobre isso — disse Pedro.
— É o que penso que deve fazer — concordou Yosef soturnamente... mas quando Pedro se afastou arrastando os pés, ele sorriu. Achava que o menino tinha-se conduzido bem. O pai estaria moralmente obrigado a cuidar que o rapazinho sofresse um corretivo por opor-se aos mais velhos, mas o cavalariço sabia que Rolando, em sua velhice, prezava demais os filhos... a Pedro talvez um pouco mais que a Tomás, e achava que o menino teria a sua montaria. Também teria um grande desgosto, quando o animal morresse, mas, como o veterinário expressara com justeza, isso não lhe dizia respeito. Ele entendia de educar cavalos; quanto à educação de príncipes, melhor que ficasse em outras mãos.
Pedro foi surrado por intrometer-se no que era da alçada do cavalariço e, embora não fosse alívio para seu traseiro dolorido, compreendeu que o pai lhe conferira grande honra ministrando-lhe ele mesmo a sova, em vez de entregar Pedro a um subalterno que, possivelmente, teria procurado conseguir favores, amenizando o castigo.
Pedro ficou sem poder dormir de costas por três dias e sem poder comer sentado por quase uma semana, mas o cavalariço também estava certo em relação à montaria — Rolando consentiu que o filho ficasse com ela.
— Não vai ocupar-se dela muito tempo, Pedro — avisou-lhe Rolando. — Se Yosef diz que ela vai morrer, ela vai morrer.
Rolando estava um pouco pálido, e suas velhas mãos tremiam. A surra lhe doera mais que em Pedro, que, na verdade, era o seu predileto... embora Rolando ingenuamente imaginasse que ninguém além dele mesmo sabia disso.
— Não sei não — disse Pedro. — Pareceu-me que aquele médico de cavalos sabia o que estava dizendo.
Ficou demonstrado que o doutor sabia mesmo. A égua não teve envenenamento do sangue e não morreu; no fim, sua manqueira era tão leve, que o próprio Yosef foi forçado a admitir que quase não se notava.
— Pelo menos quando ela está descansada — emendou.
Pedro foi mais que cumpridor com respeito às cataplasmas; foi quase religioso. Trocava as velhas por novas três vezes ao dia e uma quarta antes de ir para a cama. De tempos em tempos, Ben Staad tomava seu lugar, mas foram poucas as vezes. Pedro deu à égua o nome de Peônia e sua amizade pelo animal floresceu.
Numa coisa Flagg sem dúvida tinha razão no dia em que aconselhou Rolando a não permitir que Pedro brincasse com a casa de boneca: os criados estavam por toda parte, viam tudo e davam com a língua nos dentes. Vários criados tinham presenciado a cena da estrebaria, mas, se todos os criados que mais tarde afirmaram ter estado lá tivessem realmente estado, teria havido um batalhão apinhado à volta do pátio naquele dia de sol. É claro que não fora esse o caso, mas o fato de tantos acharem que o que se passara valia a mentira era um sinal de que Pedro era considerado uma figura realmente interessante. Tanto comentaram sobre o acontecimento que, por algum tempo, pode-se dizer que foi a sensação de Delain. Também Yosef falava; e o jovem médico de cavalos não deixava por menos. Tudo o que diziam era em favor do jovem príncipe — a palavra de Yosef tinha um peso especial, pois ele era muito respeitado. Ele passou a chamar Pedro de “o jovem rei”, algo que antes nunca tinha feito.
— Acho que Deus salvou a égua, porque o jovem rei tomou tão bravamente o seu partido — dizia. — E ele mourejou com aquelas cataplasmas que nem um escravo. Valente, ele: tem o coração de um dragão. Um dia vai ser rei, e um rei de verdade. Ah, vocês deviam ter ouvido a voz dele quando me mandou largar a marreta!
Era uma história e tanto, não há dúvida, e Yosef bebeu por conta dela nos sete anos seguintes — até que Pedro foi preso por um crime hediondo, julgado e condenado a passar o resto de seus dias numa cela, no topo do Obelisco.
TALVEZ VOCÊS ESTEJAM se perguntando como seria Tomás, e alguns possivelmente já lhe estarão atribuindo a parte do vilão, como conivente voluntário na conspiração de Flagg para arrebatar a coroa de seu legítimo dono.
Na verdade, não foi nada disso, embora a alguns sempre tenha parecido, e é certo que Tomás teve uma participação. Reconheço que ele não parecia um menino muito bom — pelo menos à primeira vista. De fato, ele não era um bom menino igual a Pedro, mas nenhum irmão teria parecido realmente bom se comparado a Pedro, e Tomás já percebia isso muito bem, quando andava pelos quatro anos — foi no ano seguinte à famosa corrida dos sacos, e o mesmo ano em que ocorreu o não menos famoso episódio da cavalariça. Pedro mentia raramente e nunca trapaceava. Pedro era alto e bonito, inteligente e gentil. Parecia-se com a mãe, que fora tão intensamente amada pelo rei e pelo povo de Delain.
Como seria possível a Tomás competir com tantas qualidades? Uma pergunta simples e uma resposta simples. Não seria.
Ao contrário de Pedro, Tomás tinha as feições do pai. Isso dava ao velho algum prazer, mas não lhe dava o prazer que em geral experimentam os homens quando têm um filho que mostra claramente a estampa de seu semblante. Olhar para Tomás era como se ver num espelho enganado. Ele sabia que os finos cabelos louros de Tomás encaneceriam cedo e logo começariam a cair; antes dos 40, Tomás estaria calvo. Sabia que Tomás jamais seria alto e, se tivesse o apetite do pai por cerveja e hidromel, aos 25 já estaria carregando à frente uma grande pança. Os pés já começavam a voltar-se para dentro, e Rolando adivinhava que Tomás caminharia com o bamboleio trôpego era o seu próprio andar.
Tomás não era exatamente um bom menino, o que não é razão para pensar que fosse mau. Era, às vezes, um menino triste, não raro um menino confuso (também herdara outra característica do pai: quando pensava muito, ficava com o nariz entupido e a sensação de pedras rolando dentro da cabeça) e muitas vezes ciumento, mas não era mau.
Tinha ciúme de quem? Ora, do irmão, é claro. Tinha ciúme de Pedro. Não bastava que Pedro fosse o futuro rei. Ah, não! Não bastava que o pai gostasse mais de Pedro, e que os criados gostassem mais de Pedro, e que os professores gostassem mais de Pedro, porque ele estava sempre em dia com as lições e não precisava ser incentivado com anulações. Não bastava que todos gostassem mais de Pedro, e que Pedro tivesse um amigo do peito. Havia algo mais.
Quando qualquer um olhava para Tomás, principalmente o rei seu pai, Tomás tinha a impressão de ler-lhe o pensamento: Nós amávamos sua mãe e você a matou quando veio ao mundo. E o que recebemos em troca da dor da morte que você lhe causou? Um guri desenxabido com uma cara redonda em que quase não se vê o queixo, um pirralho atoleimado que aos oito anos de idade ainda não sabe fazer letras grandes. Seu irmão Pedro sabia fazê-las todas aos seis anos. O que recebemos? Quase nada. Por que você veio, Tomás? Para que serve? Reserva do trono? É só para isso que você serve? Reserva do trono para o caso de Pedro, o Precioso, cair da sua égua manca e arrebentar a cabeça? É só isso? Pois bem, nós não queremos você. Nenhum de nós quer. Nenhum de nós quer...
A parte que Tomás desempenhou na prisão do irmão foi desonrosa, mas ainda assim ele não era realmente um mau menino. Estou convencido disso, e espero que, com o tempo, vocês venham a ser da mesma opinião.
CERTA VEZ, QUANDO tinha sete anos, Tomás passou um dia inteiro trabalhando em seu quarto, esculpindo para o pai um modelo de veleiro. Aplicava-se nisso, sem saber que nesse dia Pedro cobrira-se de glória na cancha de arco-e-flecha, sob as vistas do pai. Em geral, Pedro não era um grande arqueiro — nesse campo, pelo menos, Tomás viria a revelar-se bem superior ao irmão mais velho —, mas nesse dado dia Pedro completara a série júnior de alvos como um inspirado. Tomás era um menino triste, um menino confuso e não raro um menino sem sorte.
Tomás pensara no barco porque algumas vezes, em tardes de domingo, o pai gostava de ir até o fosso que circundava o castelo e fazer navegar diversos tipos de barcos de brinquedo. Esses prazeres simples davam a Rolando um grande contentamento, e Tomás nunca esquecera certo dia em que o pai o levara — só a ele — consigo. Nessa época, o pai tinha um conselheiro cuja única função era ensinar Rolando a fazer barcos de papel, e o rei se tomara de grande entusiasmo por eles. Nesse dia, uma velha carpa esbranquiçada saltara da água lamacenta e engolira inteiro um dos barquinhos de papel de Rolando. Este rira às gargalhadas como um menino e comentara que aquilo era melhor que uma história de monstros marinhos. Ao dizer isso, estreitara Tomás num abraço apertado. Tomás nunca esqueceu aquele dia — o sol brilhando, o cheiro úmido, um pouco rançoso, da água do fosso, o calor dos braços do pai, a aspereza de sua barba.
Assim, um dia em que se sentia mais que nunca solitário, nascera-lhe a idéia de fazer um barco à vela para o pai. Não ia sair grande coisa, e Tomás sabia disso — era quase tão desajeitado com as mãos como em decorar suas lições. E ele sabia também que o pai poderia incumbir qualquer artesão de Delain — até mesmo o grande Ellender, que ainda não cegara por completo — de construir barcos para ele, se quisesse. A diferença crucial, raciocinava Tomás, seria o fato de o próprio filho de Rolando ter passado um dia inteiro esculpindo um barco para seu divertimento de domingo.
Tomás levou o dia inteiro sentado junto à janela, pacientemente entalhando um bloco de madeira. Usava uma faca afiada, lanhou-se um sem-número de vezes e chegou a cortar-se profundamente. Mesmo assim, perseverou, sem ligar para as mãos doloridas. Enquanto trabalhava, sonhava em como ele e o pai iriam pôr o barco a navegar, no domingo à tarde, os dois sozinhos, já que Pedro estaria cavalgando Peônia pelo mato, ou longe brincando com Ben. Nem se importaria se aquela mesma carpa viesse e engolisse o seu barco de madeira, porque então o pai iria rir e abraçá-lo e dizer que aquilo era melhor que uma história de monstros marinhos devorando caravelas anduanas.
Mas, quando ele entrou no quarto do rei, Pedro estava lá, e Tomás teve de esperar por quase meia hora com o barco escondido atrás das costas, enquanto o pai exaltava o feito de armas de Pedro. Tomás percebeu que Pedro se sentia constrangido debaixo da enxurrada de elogios. Percebeu também que Pedro vira que Tomás queria falar com o pai e tentava adverti-lo. Não importava, nada disso fazia diferença. Tomás odiou-o assim mesmo.
Finalmente, Pedro deu um jeito de se afastar. Tomás aproximou-se do pai, que olhou para ele de forma amável, agora que Pedro se fora.
— Eu fiz uma coisa para você, papai — disse, de repente, intimidado. Segurava o barco atrás das costas com as mãos que de repente ficaram pegajosas de suor.
— É mesmo, Tomasinho? — disse Rolando. — Ora, foi uma grande gentileza, não é mesmo?
— Uma grande gentileza, Sire — disse Flagg, que por acaso andava por perto. Falou como quem não diz nada de mais, mas ficou a observar Tomás com vivo interesse.
— O que é, meu rapaz? Deixe-me ver!
— Eu me lembrei, papai, de como você gosta de levar um ou dois barcos ao fosso nas tardes de domingo, e... — Queria desesperadamente dizer: e queria que me levasse outra vez com você algum dia, por isso o fiz, mas verificou que não conseguia articular o pensamento — ... e, aí, fiz este barco... levei um dia inteiro... me cortei... e... e...
Sentado à sua janela, moldando o barco, Tomás compusera um longo e eloqüente discurso que pronunciaria antes de tirar o barco de trás das costas e apresentá-lo ao pai com um floreio, mas agora quase não lembrava uma palavra dele, e o que lembrava parecia não fazer nenhum sentido.
Horrivelmente encabulado, tirou de trás das costas o veleiro com sua vela amarfanhada e estendeu-o a Rolando. O rei revirou-o em sua grande mão de dedos curtos e grossos. Tomás ficou a mirá-lo, sem se dar conta que esquecera de respirar.
Finalmente, Rolando levantou os olhos.
— Bonito, Tomasinho, muito bonito. Uma canoa, não é?
— Veleiro.
Não está vendo a vela?, teve vontade de gritar. Levei uma hora só para fazer os nós, e não é minha culpa se um deles se soltou e por isso ela está frouxa!
O rei tocou com os dedos a vela listrada que Tomás cortara de uma fronha.
— É mesmo... claro, um veleiro. A princípio pensei que fosse uma canoa, e que isto fosse a roupa suja de uma garota de Orã.
Deu uma piscadela para Flagg, que sorriu vagamente para o ar e nada disse. De súbito, Tomás sentiu que ia vomitar.
Rolando olhou para o filho com mais seriedade e acenou-lhe para que se aproximasse. Timidamente, sem saber bem o que esperar, Tomás obedeceu.
— É um bom barco, Tomasinho. Sólido como você, um pouco mal-acabado como você, mas bom... como você. Mas se quer me dar mesmo um bom presente, esforce-se bastante na prática do arco para ganhar uma medalha de primeira classe como fez Pedrinho hoje.
Tomás tinha conquistado uma medalha nas provas de principiantes no ano anterior, mas o pai, em seu contentamento com a façanha de Pedro, aparentemente tinha-se esquecido. Tomás não o lembrou; simplesmente ficou ali parado, olhando o barco nas grandes mãos do pai. Suas faces e testa tinham tomado uma cor de tijolo velho.
— Quando ficaram só dois meninos, Pedro e o filho de Lorde Towson, o instrutor determinou que tinham de recuar mais quarenta koners. O garoto Towson fez um ar de desânimo, mas Pedro simplesmente caminhou até a marca e encaixou uma flecha. Eu vi a expressão dos olhos dele e disse a mim mesmo: “Ele venceu! Por todos os deuses que existem, ele ainda não disparou nenhuma flecha e já ganhou!” E ganhou mesmo! Palavra, Tomasinho, você devia ter estado lá! Devia ter...
E o rei prosseguiu na cantilena, pondo de lado o barco que custara a Tomás um dia inteiro de trabalho, mal lhe concedendo um segundo olhar. Tomás ficou escutando, sorrindo mecanicamente, sem perder aquele vermelhão opaco de tijolo que lhe tingia o rosto. O pai nunca iria dar-se ao trabalho de levar ao fosso o barco que ele construíra — e por que haveria? O barco era tão abjeto quanto Tomás estava se sentindo. Pedro decerto era capaz de fazer um melhor com os olhos vendados, e na metade do tempo. Pelo menos aos olhos do pai pareceria melhor.
Depois de uma angustiosa eternidade, Tomás teve permissão para fugir.
— Acho que o menino se esforçou um bocado nesse barco — Flagg observou em tom despreocupado.
— É. Acho que sim — disse Rolando. — Coisa mais feia, hein? Parece um pouco uma bosta de cachorro com um lenço espetado nela.
E parece algo que eu teria feito quando tinha a idade dele, acrescentou com seus botões.
Tomás não podia ouvir pensamentos... mas um malfadado efeito acústico levou-lhe as palavras de Rolando, no instante em que ia saindo do grande salão. De repente, a medonha pressão amarga em seu estômago ficou mil vezes pior. Ele correu para o quarto de dormir e vomitou numa bacia.
No dia seguinte, perambulando atrás das cozinhas externas, Tomás viu um velho cão meio aleijado que fuçava o lixo. Apanhou uma grande pedra e arremessou. A pedra acertou o alvo. O cão ganiu e caiu, gravemente ferido. Tomás sabia que o irmão, embora cinco anos mais velho, não teria desferido um tiro tão certeiro na metade da distância — mas foi uma satisfação amarga, porque ele também sabia que Pedrinho, para início de conversa, jamais teria atirado uma pedra num pobre cão faminto, muito menos num tão velho e decrépito como obviamente era aquele.
Por um momento, a compaixão inundou o peito de Tomás e seus olhos se encheram de lágrimas. Então, sem saber por quê, ele pensou nas palavras do pai: Parece um pouco bosta de cachorro com um lenço espetado nela. Apanhou um punhado de pedras e caminhou para onde estava o cão caído de lado, aturdido e sangrando de um ouvido. Parte dele queria deixar o cão em paz, ou talvez curá-lo, como Pedro fizera com Peônia — para adotá-lo como seu e amá-lo para sempre. Mas parte dele queria feri-lo, como se ferindo o cão pudesse aliviar um pouco seu próprio sofrimento. Parou, indeciso, e lhe ocorreu um pensamento terrível:
E se esse cão fosse Pedro?
Isso decidiu o caso. Aproximou-se mais do velho cão e atirou-lhe pedras até acabar de matá-lo. Ninguém o viu, mas se alguém tivesse visto aquilo, teria pensado: Aquele é um menino mau... mau, mau, e até talvez diabólico. Mas quem só tivesse assistido ao massacre cruel do cão não teria visto o que se passara na véspera — não teria visto Tomás a vomitar numa bacia chorando amargamente. Ele era não raro um menino confuso, não raro um menino triste e sem sorte, mas eu insisto no que disse — não era um menino mau, não mesmo.
Eu disse também que ninguém viu o vira-lata sendo apedrejado atrás das cozinhas externas, mas não é bem verdade. Flagg viu o episódio naquela noite, em seu cristal mágico. Viu... e ficou bem satisfeito com o que viu.
ROLANDO... SACHA.... PEDRO... Tomás. Só falta falar de mais um, não é? Só resta um misterioso quinto personagem. Chegou a hora de falar de Flagg, por mais desagradável que seja.
Às vezes, o povo de Delain chamava-lhe Flagg o Encapuzado; às vezes, simplesmente o Negro — pois, apesar de sua cara branca de cadáver, era realmente um homem de alma negra. Diziam-no bem conservado, mas usavam o termo de modo mais inquieto do que lisonjeira. Ele viera de Garlan para Delain, na época do avô de Rolando. Então, sua aparência era a de um homem magro, de ar sombrio, de uns 40 anos. Agora, nos últimos anos do reinado de Rolando, parecia um homem magro, de ar sombrio, de uns 50 anos. No entanto, não tinham decorrido dez anos, nem 20, entre aquela época e agora — tinham decorrido nada menos de 76. Bebês que, desdentados, mamavam nos peitos de suas mães quando Flagg chegara a Delain tinham crescido, casado, tido filhos, envelhecido e morrido desdentados, em suas camas ou ao pé de suas lareiras. Mas, ao longo de todo esse tempo, Flagg parecia só ter envelhecido dez anos. Era magia, cochichavam, e naturalmente era bom ter um mago na corte, um mago de verdade, não um mero mágico de palco que sabe empalmar moedas ou esconder na manga uma pomba adormecida. No entanto, intimamente, sabiam que nada de bom havia em Flagg. Quando a gente de Delain o via aproximar-se espreitando com os olhos vermelhos de dentro do capuz, logo tratava de arranjar o que fazer do outro lado da rua.
Teria realmente vindo de Garlan, com seus horizontes distantes e o azul de suas montanhas de sonho? Não sei. Era e é um país mágico, onde às vezes voam tapetes e onde às vezes homens santos com o som de suas flautas fazem subir cordas de dentro de cestos, sobem por elas e desaparecem no topo, e nunca mais são vistos. Muitos curiosos e pesquisadores, oriundos de terras mais civilizadas como Andua e Delain, têm ido a Garlan. Em sua maioria, eles desapareceram tão completa e definitivamente quanto aqueles estranhos místicos que sobem por cordas dançantes. Os que voltam nem sempre voltam mudados para melhor. Sim, é bem possível que Flagg tivesse vindo de Garlan, mas se assim foi, não foi no reinado do avô de Rolando e, sim, muitíssimo antes.
Na verdade, ele tinha vindo a Delain diversas vezes. Cada vez, vinha com um nome diferente, mas sempre com a mesma carga de desgraça, sofrimento e morte. Desta vez, ele era Flagg. Da vez anterior, tinha o nome de Bill Hinch e fora o lorde carrasco-mor do rei. Embora isso tivesse sido 250 anos atrás, era um nome que as mães ainda usavam para amedrontar os filhos quando se portavam mal. “Se você não parar de berrar, olhe que Bill Hinch vem buscar você e o leva embora!”, ameaçavam. Servindo como lorde carrasco-mor sob os três dos reis mais sanguinários da longa história de Delain, Bill Hinch dera fim a centenas — milhares, alguns diziam — de prisioneiros com seu enorme machado.
Antes ainda, 400 anos antes da época de Rolando e seus filhos, ele veio na pele de um cantor chamado Browson, que se tornou conselheiro particular do rei e de uma rainha. Browson desapareceu como fumaça, depois de provocar uma sangrenta guerra entre Delain e Andua.
Antes ainda...
Ora, para que continuar? Não estou certo de que poderia, mesmo se quisesse. Quando o tempo se alonga demais, até os contadores de histórias esquecem as histórias; Flagg sempre apareceu com uma cara diferente e com um baú de truques diferente, mas duas coisas nele não mudavam. Ele vinha sempre encapuzado, um homem que parecia quase não ter rosto, e nunca vinha ele mesmo como rei, mas sempre como o conspirador das sombras, o homem que insulava veneno no ouvido dos reis.
Quem era, realmente, esse homem sinistro?
Não sei.
Por onde andava entre as visitas a Delain?
Também não sei.
Nunca suspeitaram dele?
Sim, alguns, sobretudo cronistas e contadores de histórias como eu. Suspeitavam que o homem que agora chamava a si mesmo Flagg já estivera antes em Delain e nunca para trazer nada de bom. Mas tinham medo de falar. Um homem capaz de viver entre eles 76 anos e parecer ter envelhecido não mais que dez só podia ser um feiticeiro; um homem que vivera dez vezes mais que isso, talvez mais ainda. Um homem como esse bem podia ser o diabo em pessoa.
O que ele queria? Acho que sei a resposta.
Queria o que sempre querem os homens malvados: ter poder e usar esse poder para fazer o mal. Ser um rei não lhe interessava, porque as cabeças dos reis não raro iam parar em espigões sobre muros de castelos, quando a situação ia mal. Mas conselheiros de reis... os conspiradores das sombras... esses se evaporavam como as sombras da própria noite ao romper da madrugada, assim que o machado do algoz começava a cair. Flagg era uma doença, uma febre à procura de uma fronte fresca para aquecer. Ele encapuzava suas ações como encapuzava seu rosto. E quando a grande comoção acontecia — como sempre acontecia após um lapso de anos —, Flagg sempre desaparecia como as sombras ao amanhecer.
Mais tarde, depois da carnificina e vencida a febre, quando a reconstrução era completa e novamente havia algo que valesse a pena destruir, Flagg ressurgia.
DESTA VEZ, FLAGG encontrara o reino de Delain em ótimas condições, o que o irritava bastante. Landry, avô de Rolando, era um velhote imbecil e beberrão, fácil de influenciar e manobrar, mas um ataque cardíaco fulminou-o antes do tempo. Lita, a mãe de Rolando, era a última pessoa que Flagg queria ver empunhando o cetro. Ela era feia, mas tinha bom coração e pulso firme. Uma rainha como aquela não era um bom meio de cultura para o gênero de insanidade de Flagg.
Se ele tivesse chegado no princípio do reinado de Landry, teria havido tempo para arredar Lita do caminho, como pretendia afastar Pedro. Mas só dispusera de seis anos, e esse tempo não fora o bastante.
No entanto, ela o aceitara como conselheiro, e isso já era alguma coisa. Não gostava muito dele, mas aceitava-o — sobretudo porque ele era capaz de incríveis adivinhações com as cartas. Lita adorava saber de escândalos e mexericos envolvendo as pessoas de sua corte e de seu gabinete, e os escândalos e mexericos eram duplamente interessantes porque ela ficava sabendo não apenas o que tinha acontecido, mas também o que ia acontecer. Era-lhe difícil abrir mão de uma distração tão agradável, mesmo pressentindo que um indivíduo dotado de tais habilidades podia ser perigoso. Flagg nunca informava à rainha nenhuma das notícias mais infaustas que às vezes via nas cartas. O que ela queria saber era quem era amante de quem, ou quem brigara com a mulher ou com o marido. Não queria saber de cabalas sinistras nem de planos assassinos. O que ela queria das cartas era bastante inocente.
Durante o longo reinado de Lita, Flagg teve o desgosto de verificar que não alcançaria seu objetivo principal. Conseguiu manter um ponto de apoio, mas pouco mais que isso. Sim, houve alguns êxitos — a instigação do mau sangue entre dois poderosos senhores de terras do Baronato do Sul e a desmoralização de um médico que descobrira a cura para certas infecções do sangue (Flagg não queria no reino curas que não fossem mágicas — isto é, dadas ou negadas segundo sua vontade) foram exemplos da atuação de Flagg nesse período. Mas foram ninharias.
Sob Rolando — o pobre Rolando, trôpego e inseguro — tudo marcharia mais rapidamente no rumo da meta de Flagg. Pois ele tinha uma meta, à sua maneira maligna e indecifrável, e desta vez uma meta realmente grandiosa. Planejava nada mais, nada menos que a completa subversão da monarquia — uma revolta sangrenta que mergulharia Delain em mil anos de trevas e anarquia.
Um pouco mais, um pouco menos, é claro.
NO OLHAR SERENO de Pedro, Flagg enxergou a possível derrocada de todos os seus planos e cuidadosos preparos. Cada vez mais se convencia de que era uma necessidade livrar-se de Pedro. Desta vez, demorara demais em Delain, e tinha consciência disso. As queixas já tinham começado. O trabalho tão bem iniciado no governo de Rolando — os contínuos aumentos de impostos, as batidas noturnas nas tulhas e celeiros de pequenos lavradores à cata de colheitas e alimentos sonegados, o armamento das Guardas Nacionais — teria de continuar até o fim sob Tomás. Ele não tinha mais tempo de esperar o fim do reinado de Pedro como esperara o da avó.
Pedro talvez nem esperasse que as queixas do povo lhe chegassem aos ouvidos; a primeira ordem de Pedro como rei bem poderia ser que Flagg fosse mandado para o leste e para fora do reino, sendo definitivamente proibido de voltar, sob pena de morte. Flagg poderia liquidar um conselheiro antes que ele desse ao rei esse conselho, mas o diabo era que Pedro não ia precisar de conselheiro: aconselharia a si mesmo. E, vendo o modo calmo e destemido com que o rapaz, agora com 15 anos e muito alto, olhava para ele, Flagg tinha a impressão de que Pedro já dera a si mesmo o conselho.
O rapaz gostava de ler, gostava de história e, nos últimos dois anos, enquanto o pai mais e mais encanecia e enfraquecia, andara fazendo uma porção de perguntas a outros conselheiros de Rolando e a alguns de seus professores. Muitas dessas perguntas — excessivas — ou tinham a ver com Flagg, ou com as pistas que dariam em Flagg, se por elas se avançasse o bastante.
Que o rapaz fizesse tais perguntas aos 14 e aos 15 anos já era mau. Que estivesse obtendo respostas relativamente francas de homens tímidos e contemplativos, como os cronistas do reino e os conselheiros do rei, era muito pior. Significava que no entender dessas pessoas Pedro já era quase rei — e que elas com isso se alegravam. Eles o festejavam e se regozijavam, porque Pedro ia ser um intelectual como eles. E também o festejavam porque, ao contrário deles, era um rapaz corajoso que talvez viesse a ser um rei de coração-de-leão cuja história alimentaria lendas. Viam nele um retorno do Branco, aquela força antiga e resistente, embora humilde, que por vezes sem conta redimiu a humanidade.
Pedro tinha de ser posto fora do caminho. Tinha de ser.
Flagg dizia isso a si mesmo todas as noites, quando se recolhia à escuridão dos seus aposentos secretos, e era a primeira coisa que lhe vinha à cabeça quando, na manhã seguinte, acordava na mesma escuridão.
Ele tem de ser posto fora do caminho, o rapaz tem de ser posto fora do caminho.
Mas era mais difícil do que parecia. Rolando amava os filhos e teria dado a vida por qualquer um dos dois, mas amava Pedro com um arrebatamento especial. Sufocar o menino em seu berço, fazendo parecer que a “morte dos infantes” o tinha levado, teria sido possível, talvez em outro período, mas Pedro era agora um rapaz cheio de saúde.
Qualquer acidente seria investigado com toda a furiosa diligência do luto de Rolando, e Flagg mais de uma vez tinha pensado na suprema ironia que seria esta: e se Pedro realmente morresse de morte acidental e ele, Flagg, de alguma forma fosse acusado dela? Um pequeno erro de cálculo ao caminhar por uma calha... um escorregão ao rastejar sobre o telhado de uma estrebaria, brincando de esconder com seu amigo Staad... uma queda do cavalo. E qual seria o resultado? Não iria Rolando, enlouquecido pela dor e em seu estado de crescente confusão senil, ver um crime intencional no que fora realmente um acidente? E não iriam seus olhos voltar-se para Flagg? Decerto que sim. Seus olhos iriam voltar-se para Flagg antes de qualquer outro. A mãe de Rolando desconfiara dele, e ele sabia que, no fundo, Rolando também desconfiava. Tinha reprimido essa desconfiança com um misto de fascínio e medo, mas Flagg sabia que se Rolando viesse a ter motivo para suspeitar que Flagg causara a morte do seu filho, ou sequer contribuído para ela...
Flagg chegava a imaginar situações em que talvez tivesse de intervir em favor de Pedro para garantir-lhe a segurança. Era exasperante. Exasperante!
Ele tem de ser posto fora do caminho. Tem de ser posto fora do caminho! Tem!
À medida que os dias, semanas e meses se passavam, o martelar dessa idéia no cérebro de Flagg tornava-se mais e mais urgente. A cada dia Rolando ficava mais velho e mais fraco; a cada dia Pedro ficava mais velho e mais experiente e, assim, mais perigoso como adversário! O que fazer?
Os pensamentos de Flagg revolviam incessantemente. Ele se tornou rabugento e irritadiço. Os criados, principalmente o mordomo de Pedro, Brandon, e o filho de Brandon, Denis, tudo faziam para evitá-lo e falavam entre si em cochichos dos cheiros horríveis que às vezes, tarde da noite, vinham do laboratório. Denis, principalmente, que um dia tomaria o lugar do seu velho pai como mordomo de Pedro, tinha pavor de Flagg e, certa vez, perguntou ao pai se não devia dizer a Pedro uma palavra de advertência em relação ao bruxo.
— Pela segurança dele, é só no que penso — disse Denis.
— Nem uma palavra — comentou Brandon, e fixou em Denis, que também não passava de um menino, um olhar proibitivo. — Não vai dizer nem uma palavra. O homem é perigoso.
— Pois então, não é uma razão...? — ensaiou Denis timidamente.
— Um idiota pode confundir o ruído do chocalho de uma cascavel com os seixos numa cabaça e estender a mão para tocá-la — disse Brandon —, mas o nosso príncipe não é nenhum idiota, Denis. Agora vá buscar-me outro copo de gim e não me fale mais nisso.
Assim, Denis não tocou no assunto com Pedro, mas o amor que dedicava ao seu jovem amo e o pavor que sentia do sinistro conselheiro do rei cresceram ainda mais depois daquele breve diálogo. Cada vez que via Flagg encapuzado, deslizando por um dos corredores do castelo com sua capa, desviava-se, tremendo, e pensava: Cascavel! Cascavel! Cuidado com ele, Pedro! E apure os ouvidos!
Assim, uma noite, quando Pedro estava com 16 anos, e quando Flagg começava a convencer-se que não encontraria nenhum meio de dar fim ao rapaz sem inaceitáveis riscos para si, surgiu uma solução. Era uma noite de tempestade. Um violento aguaceiro de outono bramia e gemia em torno do castelo, e as ruas de Delain achavam-se vazias, com as pessoas procurando abrigar-se das pancadas geladas de chuva e das rajadas de vento.
Por causa da umidade, Rolando apanhara um resfriado. Ultimamente resfriava-se com muita facilidade, e os remédios de Flagg, por potentes que fossem, vinham perdendo o poder de curá-lo. Um desses resfriados — possivelmente aquele mesmo que agora o fazia tossir e chiar — acabaria por degenerar na “doença da água no pulmão”, e esta o mataria. Poções mágicas não são como remédios de médicos, e Flagg sabia que um dos motivos de as poções que ministrava ao velho rei serem agora tão lentas no agir era que ele, Flagg, já não queria realmente que agissem. O único motivo de ele manter Rolando com vida era o medo que tinha de Pedro.
Tomara que estivesse morto, velho, pensava Flagg com fúria infantil, sentado diante de uma vela que escorria, ouvindo o vento assoviar lá fora, e dentro o seu papagaio bicéfalo a resmungar consigo mesmo, sonolento. Por um vintém — por um vintém furado — eu era capaz de matá-lo eu mesmo, por todos os transtornos que você e a sua estúpida mulher e o seu filho mais velho me causaram. A alegria de matá-lo quase valeria a ruína dos meus planos. A alegria de matá-lo...
De repente Flagg se imobilizou, ereto no assento, fitando a escuridão da sala subterrânea, onde sombras se agitavam inquietas. Seus olhos faiscavam. Uma idéia chamejava em sua mente como um facho.
A vela ostentou um clarão verde brilhante e apagou-se.
— Morte! — guinchou uma das cabeças do papagaio no escuro.
— Assassinato! — guinchou a outra.
E, no negrume, sem ser visto por ninguém, Flagg rompeu numa estrondosa gargalhada.
DE TODAS AS ARMAS usadas na prática do regicídio — o assassinato de um rei —, a mais comum é o veneno. E ninguém mais do que um bruxo entende de venenos.
Flagg, um dos maiores mágicos que já viveram, conhecia todos os venenos que nós conhecemos: arsênico; estricnina; o curare, que destila para dentro, paralisando todos os músculos e finalmente o coração; nicotina; beladona; meimendro; chapéu-de-cobra. Conhecia as peçonhas de uma centena de cobras e aranhas; o extrato claro do lírio claná, que tem aroma de mel, mas mata suas vítimas em dolorosos tormentos; a unha-da-morte, que cresce nos esconsos mais sombrios do Pântano das Almas. Flagg conhecia não apenas dúzias de venenos, mas dúzias de dúzias, cada qual pior do que o outro.
Estavam todos caprichosamente enfileirados nos armários de um quarto interior onde nenhum criado jamais punha os pés. Estavam em cálices, em frascos, em pequenos envelopes, cada unidade mortífera cuidadosamente rotulada. Era a capela das lamentações-por-vir de Flagg — sala de espera da agonia, Vestíbulo das febres, antecâmara da morte. Flagg sempre ia lá, quando se sentia deprimido e queria se animar. Naquela feira do diabo, estavam à espera todas essas coisas que os homens, feitos de carne e tão fracos, abominam: dores de cabeça lancinantes, cãibras estomacais, eclosões de diarréia, vômitos, espasmos de vasos sangüíneos, ataques cardíacos, olhos desorbitados, inchação, língua negra, loucura.
Mas o pior de todos os venenos Flagg mantinha separado, até mesmo desses. Em seu gabinete de trabalho, havia uma mesa. Todas as gavetas dessa mesa eram trancadas... mas uma delas era trancada com três fechaduras. Dentro dela havia uma caixa de teca, com símbolos mágicos gravados... runas e coisas parecidas. O fecho dessa caixa era de uma espécie singular. A chapa parecia ser de um aço alaranjado fosco, mas um exame bem detido revelava tratar-se de uma espécie de matéria vegetal. Na verdade, era feita de raiz de kleffa, e uma vez por semana Flagg regava aquela fechadura viva com um pequeno vaporizador. A raiz da kleffa parecia possuir um dom rudimentar de inteligência. Se alguém tentasse arrombar a fechadura de kleffa, ou mesmo se a pessoa errada tentasse introduzir a chave certa, a fechadura gritaria. Dentro dessa caixa, havia uma caixa menor, a qual se abria com uma chave que Flagg trazia sempre pendurada no pescoço.
Dentro da segunda caixa, havia um pacote. Dentro do pacote, uma pequena porção de areia verde. Bonito, diriam vocês, mas nada de espetacular. Nada de contar em carta para mamãe. No entanto, essa areia verde era um dos venenos mais mortais do mundo, tão mortal que o próprio Flagg o temia. Era oriundo do deserto de Grenh. Essa região desabitada ficava além de Garlan, e era uma terra desconhecida em Delain. Só era possível aproximar-se de Grenh num dia em que o vento estivesse soprando a favor, porque um único hausto dos vapores que vinham do deserto causaria a morte.
Não morte instantânea. Não era assim que o veneno agia. Por um ou dois dias, talvez até três, quem respirasse os vapores venenosos (ou, pior ainda, engolisse grãos de areia) sentir-se-ia muito bem — talvez melhor do que nunca em sua vida. Então, de repente, seus pulmões ficariam em brasa, a pele começaria a fumegar e o corpo a encarquilhar-se como o de uma múmia. Em seguida, cairia morto, não raro com o cabelo em fogo. Quem respirasse ou ingerisse a substância letal queimaria de dentro para fora.
Era a “areia-de-dragão”, contra a qual não existia antídoto nem cura. Que maravilha!
Naquela noite de vento e chuva, Flagg tomou a decisão de servir a Rolando uma pitada de areia-de-dragão num copo de vinho. Tornara-se um hábito de Pedro levar ao pai todas as noites um copo de vinho um pouco antes de Rolando recolher-se. Todos no palácio sabiam disso e comentavam a respeito do filho devotado que era Pedro. Rolando apreciava a companhia do filho tanto quanto o vinho que este lhe trazia, matutava Flagg, mas uma certa donzela atraíra as atenções de Pedro e, ultimamente, era raro que ele ficasse com o pai por mais de meia hora.
Se uma noite Flagg chegasse depois da saída de Pedro, refletia Flagg, o velho com certeza não recusaria um segundo copo de vinho.
Um copo de vinho muito especial.
Uma safra quente, Majestade, imaginava Flagg, um sorriso despontando-lhe na cara magra. Uma safra verdadeiramente quente, e por que não? A vinha fica bem junto do inferno, creio eu, e quando esta coisa começar a agir em suas tripas, você vai pensar que o inferno é onde você está.
Flagg atirou a cabeça para trás e gargalhou.
UMA VEZ ASSENTADO o plano — que o livraria simultaneamente de Rolando e de Pedro para sempre —, Flagg não perdeu tempo. Para começar, usou de toda a sua bruxaria para pôr o rei são novamente. Alegrou-se ao comprovar que os seus filtros mágicos faziam mais efeito do que desde muito, muito tempo. Era mais uma ironia. Ele queria genuinamente que Rolando melhorasse, e por isso as poções funcionavam. Mas queria que o rei ficasse bom para poder matá-lo e assegurar que todos soubessem que fora assassinato. Pensando bem, até que era engraçado.
Numa noite de vento, menos de uma semana depois que o rei parara de tossir, Flagg abriu a gaveta e retirou a caixa de teca. Murmurou “Bem-feito” para a raiz de kleffa, que emitiu em resposta um guincho irracional, ergueu a pesada tampa e tirou de dentro a caixa menor. Usou a chave do pescoço para abri-la e removeu o pacote que continha a areia-de-dragão. Ele encantou o pacote que ficara imune ao terrível poder da areia-de-dragão. Ou pelo menos era o que ele imaginava. Flagg preferiu não se arriscar e removeu o pacote com uma pequena pinça de prata, pousando-o sobre a mesa, junto a um dos cálices do rei. O suor brotava-lhe da testa em grandes gotas redondas, pois aquele era um trabalho realmente delicado. Um pequeno erro e ele o pagaria com a vida.
Flagg saiu para o corredor que levava às masmorras e se pôs a ofegar ruidosamente. Estava fazendo uma hiperventilação. Quando a gente respira rapidamente, inunda todo o corpo de oxigênio e com isso pode prender a respiração por muito mais tempo. Na fase crítica da preparação, Flagg pretendia parar de respirar completamente. Não haveria erros, grandes ou pequenos. Estava contente demais para morrer.
Tomou uma última e profunda inspiração do ar puro que vinha da janela gradeada junto à porta dos seus aposentos e tornou a entrar. Aproximou-se da mesa, tirou do cinto um punhal e delicadamente abriu um corte no invólucro. Havia sobre a mesa uma placa de obsidiana, que o bruxo usava como peso de papéis — naquele tempo a obsidiana era a pedra mais dura que se conhecia. Usando outra vez a pinça, pegou o pacote, emborcou-o e despejou a maior parte da areia. Deixou de sobra uma pequena quantidade — pouco mais que uma dúzia de grãos, mas essa pequena sobra era de importância capital para o seu plano. Apesar da dureza da obsidiana, imediatamente a pedra começou a fumegar.
Trinta segundos tinham-se passado.
Pegou a obsidiana, tomando cuidado para que nem um único grão da areia-de-dragão lhe tocasse a pele — neste caso, iria penetrar-lhe pelo corpo até chegar ao coração e incendiá-lo. Inclinou a pedra sobre o copo e despejou.
Rapidamente, antes que a areia começasse a corroer o vidro, derramou no copo uma porção do vinho preferido de Rolando — o mesmo tipo de vinho que aproximadamente àquela hora Pedro estaria levando para o pai. A areia dissolveu-se instantaneamente. Por um instante, o vinho vermelho irradiou um sinistro fulgor esverdeado, em seguida retornou à cor habitual.
Cinqüenta segundos.
Flagg voltou à mesa. Apanhou a pedra achatada e levantou o punhal pelo cabo. Apenas uns poucos grãos da areia-de-dragão tinham tocado a lâmina quando ele cortara o papel, mas eles já estavam roendo o metal, e tênues fiapos malignos de fumaça subiam das bexigas escavadas no aço anduano. Levando consigo a pedra e o punhal, saiu pelo corredor.
Setenta segundos, e o seu peito começava a clamar por ar.
Nove metros além no corredor que, prosseguindo-se a caminhada, levava ao calabouço (uma viagem que ninguém em Delain tinha vontade de fazer), havia no piso uma grande abertura gradeada. Flagg podia ouvir um murmúrio de água, e se não estivesse prendendo a respiração teria sentido um odor de podridão. Aquilo era um dos esgotos do castelo. Deixou cair a pedra e o punhal pela abertura e, ao ouvir o duplo mergulho, apesar dos espasmos no peito, sorriu. Depois correu de volta à janela, debruçou-se para fora o mais que pôde e sorveu o ar em haustos ofegantes.
Tendo recobrado o fôlego, voltou ao gabinete. Agora só estavam na mesa a pinça, o pacote e o cálice de vinho. Não havia um só grão de areia na pinça, e o pequeno resto deixado no invólucro encantado não lhe podia fazer mal se ele fosse razoavelmente cuidadoso.
Ele achou que até aquele ponto fizera tudo bem-feito. Seu trabalho estava longe de acabar, mas fora bem começado. Curvou-se sobre o copo e inalou profundamente. Já não havia perigo: quando a areia se misturava a um líquido, seus vapores tornavam-se inofensivos e imperceptíveis. A areia-de-dragão só produzia emanações letais quando em contato com um sólido, como a pedra.
Como carne.
Flagg ergueu a taça contra a luz, admirando-lhe o brilho sangüíneo.
— Um último copo de vinho, meu rei — disse, e gargalhou até que o papagaio bicéfalo gritou de pavor. — Para aquecer-lhe as tripas.
Sentou-se, emborcou uma ampulheta e se pôs a ler um enorme livro de encantamentos. Flagg vinha lendo esse livro — que era encadernado em pele humana — havia mil anos e só percorrera uma quarta parte dele. Ler demais desse livro, escrito nas altas e longínquas planícies de Leng por um louco chamado Alhazred, seria arriscar-se a enlouquecer.
Uma hora... só uma hora. Quando a metade de cima da ampulheta estivesse vazia, ele poderia ter certeza de que Pedro teria chegado e partido. Uma hora, e poderia levar a Rolando aquele último copo de vinho. Por um momento, Flagg ficou olhando a areia branca que escoava uniformemente pelo gargalo da ampulheta, em seguida debruçou-se com calma sobre o livro.
ROLANDO MOSTROU-SE SATISFEITO e sensibilizado com a atenção demonstrada por Flagg ao levar-lhe um copo de vinho nessa noite antes de ele dormir. Bebeu-o em dois grandes goles e declarou que ele o tinha aquecido grandemente.
Sorrindo dentro do capuz, Flagg comentou:
— Foi o que imaginei, Majestade.
SE FOI O DESTINO ou puro acaso que fez com que Tomás visse Flagg com o pai aquela noite, é mais uma questão a que vocês terão de responder por si mesmos. Eu só sei que ele o viu, e que isso aconteceu em grande parte porque havia anos que Flagg se esforçava por fazer daquele jovem infeliz e sem amigos um amigo especial.
Explicarei daqui a pouco — mas, em primeiro lugar, devo corrigir uma idéia equivocada que possivelmente vocês têm sobre magia.
Em histórias de feitiçaria, existem três espécies de que em geral se fala quase negligentemente, como se qualquer feiticeiro de segunda classe as pudesse executar. São: transformar chumbo em ouro, mudar a própria forma e fazer-se invisível. Antes de tudo, é preciso que saibam que magia verdadeira nunca é fácil, e se não acreditam em mim, tentem fazer a sua tia menos estimada desaparecer no ar da próxima vez que ela chegar para ficar uma semana ou duas. Magia de verdade é difícil e, embora seja mais fácil fazer mágicas perversas que boas, mesmo as mágicas cruéis não são nada fáceis.
Transformar chumbo em ouro pode ser feito. Basta saber os nomes a invocar e encontrar alguém que nos ensine exatamente o modo certo de partir as barras de chumbo. No entanto, mudar de forma e tornar-se invisível são coisas impossíveis... ou tão perto disso, que podemos considerá-las como tal.
Em várias ocasiões, Flagg — que era um grande abelhudo — ouvira imbecis contando histórias de jovens príncipes que se livraram das garras de gênios maus simplesmente proferindo uma palavra mágica e evaporando no ar, ou de belas princesas (nas histórias, as princesas eram sempre jovens e belas, embora na experiência de Flagg fossem na maioria velhas acabadas e, como produtos finais de longas sucessões de casamentos consangüíneos, feias como o pecado e, ainda por cima, burras) que ardilosamente induziam grandes ogros a transformar-se em moscas, que logo esmagavam. Em quase todas as histórias, as princesas eram também peritas em esmagar moscas, se bem que a maioria das princesas que Flagg tinha conhecido não seria capaz de acertar uma mosca agonizante no peitoril de uma janela, no inverno. Nas histórias tudo parecia fácil; nas histórias, as pessoas mudavam de forma ou se transformavam em vidraças ambulantes, todo o tempo.
Na realidade, Flagg nunca vira ninguém executar qualquer desses truques. Certa vez conheceu um grande mágico anduano que se convencera de ter descoberto o truque da metamorfose, mas depois de seis meses de meditação e quase uma semana recitando encantamentos, numa sucessão de torturantes posturas corporais, pronunciara o último e portentoso conjuro, e tudo o que conseguira fora ficar com um nariz de quase três metros de comprimento e endoidar de vez. E lhe saíam unhas do nariz, lembrava-se Flagg com um sorriso maldoso. O grande mágico era, isso sim, um idiota.
Invisibilidade era igualmente impraticável, pelo menos tanto quanto o próprio Flagg pudera comprovar. No entanto, era possível ficar... esfumado.
É, esfumado — era mesmo o melhor termo para definir a coisa, embora às vezes ocorressem outros: espectral, diáfano, mortiço. A capacidade de se tornar invisível estava fora do alcance do mago, mas, comendo primeiro um vergalho e em seguida receitando certas fórmulas prescritas, era possível esfumaçar-se. Quando se estava esfumado e um criado aproximava-se pelo corredor, era só colar-se à parede, conservar-se imóvel e deixar que ele passasse. Na maior parte dos casos, os olhos do criado fixavam-se nos próprios pés, ou de repente encontravam no teto algo interessante para observar. Quando se atravessava uma sala, a conversação se interrompia e as pessoas se mostravam momentaneamente aflitas, como se todas simultaneamente sofressem cólicas intestinais. Tochas e castiçais de parede fumaçavam. Velas às vezes se apagavam. Só era preciso esconder-se propriamente, quando se estava esfumado, caso visse alguém que se conhecesse bem — pois, esfumado ou não, essas pessoas sempre viam. Esfumaçar-se era útil; mas não representava invisibilidade.
Na noite em que Flagg levou a Rolando o vinho envenenado, primeiro esfumou-se. Não esperava ver ninguém que conhecesse. Já passava das nove, o rei estava velho e adoentado, os dias eram curtos, e o castelo adormecia cedo. Quando Tomás for rei, pensava Flagg, enquanto levava o vinho às pressas pelos corredores, haverá função todas as noites. Ele já tem a inclinação do pai pela bebida, embora prefira o vinho à cerveja e ao hidromel. Não será difícil fazê-lo tomar gosto por algo mais forte... Afinal, somos amigos, não somos? Sim, com Pedro fora de ação no Obelisco e Tomás no trono, haverá grandes funções todas as noites... até que o povo dos burgos e dos baronatos se sinta tão indignado que se levante numa sedição sangrenta. Então, haverá uma função final, a maior de todas... mas não creio que Tomás vá divertir-se com ela. Como o vinho que esta noite estou levando para o pai, será uma função extremamente incendiária.
Não esperava ver ninguém que conhecesse e não viu. Somente alguns criados passaram por ele e se desviaram do lugar onde ele quase distraidamente se encostara, como se sentissem uma corrente gelada.
Não obstante, ele foi visto. Tomás o viu através dos olhos de Niner, o dragão que o pai matara muito tempo atrás. Isso foi possível a Tomás porque o próprio Flagg lhe ensinara o segredo.
O MODO COMO VIU rejeitado o presente do veleiro ferira Tomás profundamente, e depois disso ele passou a evitar o pai. Mesmo assim, amava Rolando e queria ansiosamente poder contentá-lo como Pedro o contentava. Mais que isso, queria fazer com que o pai o amasse como amava Pedro. Na verdade, teria se dado por feliz se o pai viesse a amá-lo a metade que fosse.
O problema era que Pedro tinha todas as boas idéias antes dele. Às vezes, Pedro procurava dividir suas idéias com Tomás, mas ou Tomás as achava bobas (até que davam certo) ou temia não ter a capacidade de fazer a sua parte do trabalho, como quando, três anos antes, Pedro fizera para o pai um conjunto de figuras de bendoh.
— Eu darei ao pai algo melhor que um monte de peças desse jogo bobo — disse Tomás com desdém.
Mas o que estava mesmo pensando era que, se não fora capaz de fazer para o pai um simples barco de madeira, jamais seria capaz de ajudar a moldar as 20 figuras do exército de bendoh. Pedro levou quatro meses fazendo sozinho as peças do jogo — infantes, cavaleiros, arqueiros, o Fuzileiro, o General, o Frade —, e é claro que Rolando as adorou, embora não fossem lá tão bem-feitas. Imediatamente pôs de lado o bendoh de jade que o grande Ellender esculpira para ele 40 anos atrás, e no lugar dele instalou o S que Pedro lhe presenteara. Quando viu isso, Tomás saiu lentamente e, chegando a seu quarto, meteu-se na cama, apesar de lá fora ainda não ter escurecido. Sentia como se alguém lhe tivesse aberto o peito e cortado um pedacinho do seu coração, obrigando-o a comê-lo. O coração tinha um gosto amargo, e ele odiou Pedro mais que nunca, ainda que parte dele amasse o seu formoso irmão mais velho e sempre haveria de amá-lo.
E, apesar do gosto amargo, ele gostou.
Porque era o seu coração.
Depois houve a história do copo de vinho da noite.
Pedro procurou Tomás e disse:
— Estive pensando, Tomás, que seria bom se levássemos todas as noites ao pai um copo de vinho. Eu perguntei ao despenseiro, e ele respondeu que não pode nos ceder uma garrafa, pois tem de prestar contas ao intendente dos vinhos ao fim de cada seis meses, mas disse que podemos juntar nosso dinheiro e comprar uma garrafa de Baronato Vat Cinco, que é o vinho preferido do pai. Não é muito caro. Nós temos boas sobras da nossa mesada e...
— É a idéia mais estúpida que já ouvi! — rebateu Tomás. — Todo o vinho pertence ao pai, todo o vinho do reino, e nós podemos dispor de tanto quanto ele queira! Por que gastar o nosso dinheiro para dar ao pai uma coisa que é dele? Encher os cofres do despenseiro, é tudo o que vamos fazer!
Pacientemente, Pedro explicou:
— Ele vai ficar contente por gastarmos com ele o nosso dinheiro, mesmo sendo algo que de qualquer modo lhe pertence.
— Quem disse que vai? Pedro respondeu irritado:
— Eu sei.
Tomás olhou para ele, carrancudo. Como confessar a Pedro que um mês antes o intendente dos vinhos o tinha surpreendido na adega surrupiando uma garrafa? O patife o sacudira e ameaçara contar ao pai se Tomás não lhe desse uma moeda de ouro. Tomás pagara, com lágrimas de raiva e humilhação a encher-lhe os olhos. Se fosse Pedro, você teria olhado para o outro lado e fingido não ver, verme, pensara. Se fosse Pedro, você teria virado as costas. Porque Pedro em breve vai ser rei, e eu serei apenas um príncipe pelo resto da vida. Ocorreu-lhe também que Pedro, para começo de conversa, jamais teria tentado roubar vinho, mas a verdade desse pensamento só fez aumentar-lhe a raiva do irmão.
— Eu só queria... — começou Pedro.
— Eu só queria, eu só queria — arremedou Tomás brutalmente. — Pois vai querer noutro lugar! Quando o pai souber que você pagou ao intendente pelo vinho que é dele, vai rir de você e chamá-lo de idiota!
Mas Rolando não rira de Pedro nem o chamara de idiota — chamara-lhe bom filho com voz embargada e quase chorosa. Tomás soube, pois, nessa primeira noite em que Pedro levou o vinho ao pai, ele o seguiu, despercebido. Olhou pelos olhos do dragão e viu tudo.
SE ALGUÉM PERGUNTASSE de supetão a Flagg o motivo que o levara a mostrar a Tomás o lugar e a passagem secreta que lhe dava acesso, ele não teria como dar uma resposta convincente. É que ele mesmo não sabia exatamente a razão por que o fizera. Ele tinha na cabeça o instinto da maldade, assim como certas pessoas têm aptidão para contas ou um bom sentido de orientação. O castelo era antiqüíssimo, e havia nele um grande número de portas e galerias secretas. Flagg conhecia a maior parte delas (ninguém, nem mesmo ele, conhecia todas), mas aquela foi a única que ele mostrou a Tomás. Seu instinto de maldade dissera-lhe que aquela poderia provocar a desgraça, e Flagg simplesmente obedecera ao seu instinto. Afinal, maldade era o forte de Flagg.
De tempos em tempos, ele aparecia no quarto de Tomás e chamava:
— Tomasinho, você parece triste! Estive me lembrando de algo que acho que você gostaria de ver! Não quer dar uma olhada?
Sempre dizia você parece triste, Tomasinho ou você parece um pouco abatido, Tomasinho, ou Tomasinho, parece que você sentou num formigueiro, porque tinha o dom de aparecer quando Tomás estava se sentindo particularmente nervoso ou deprimido. Flagg sabia que Tomás tinha medo dele e que arranjaria uma desculpa para não andar com ele, a menos que necessitasse intensamente de um amigo... e se sentisse tão abatido e infeliz que não seria exigente quanto a seu amigo. Flagg sabia disso, mas o próprio Tomás não sabia — seu medo de Flagg era latente. Na superfície da sua consciência, ele achava Flagg um bom sujeito, arteiro e brincalhão. As brincadeiras podiam ser às vezes um tanto de mau gosto, mas isso geralmente condizia com a disposição de Tomás.
Vocês acham esquisito que Flagg soubesse coisas a respeito de Tomás que Tomás não sabia a respeito de si mesmo? Pois não há nada de esquisito. A mente das pessoas, principalmente a das crianças, é como um poço — um poço fundo cheio de água limpa. E, às vezes, quando um pensamento é tão desagradável a ponto de tornar-se insuportável, a pessoa que teve o pensamento o tranca num baú bem reforçado e o joga no poço. Escuta a pancada na água... e está livre dele. Ou pensa que está. Na verdade não está. Flagg, sendo muito velho e muito experiente, além de muito malvado, sabia que todo poço, por mais profundo que seja, tem um fundo, e só porque uma coisa sumiu não quer dizer que tenha deixado de existir. Ela continua lá, pousada no fundo. E sabia que os baús em que aqueles pensamentos maus e apavorantes estão encerrados podem um dia apodrecer, e a sujeira de dentro vazar e envenenar a água... e quando o poço da mente é gravemente envenenado, o resultado é o que chamamos de demência.
Se o bruxo às vezes lhe mostrava coisas amedrontadoras no castelo, era porque sabia que quanto mais medo Tomás tivesse dele, tanto mais poder sobre Tomás ele conquistaria... e sabia que podia ganhar esse poder porque sabia aquilo que eu já lhes disse — que Tomás era fraco e muitas vezes negligenciado pelo pai. Flagg queria que Tomás tivesse medo dele e queria assegurar-se de que, no correr dos anos, Tomás tivesse de lançar muitas daquelas arcas trancadas na escuridão do seu poço interior. Se Tomás acabasse por enlouquecer depois que fosse rei, bem, e daí? Tornaria mais fácil a dominação de Flagg; tanto maior tornaria o seu poder.
Como é que Flagg sabia as horas mais apropriadas de procurar Tomás e levá-lo para aquelas surpreendentes excursões pelo castelo? Às vezes, ele via em seu cristal o que tinha acontecido para pôr Tomás triste ou zangado. O mais das vezes simplesmente obedecia ao impulso de ir até Tomás — aquele instinto de maldade raramente o enganava.
Certa vez levou Tomás ao alto da torre leste — subiram escadas até Tomás resfolegar como um cão, mas Flagg parecia não se cansar nunca. No topo, havia uma porta tão pequena que até Tomás, para passar por ela, teve de rastejar. Dava para uma peça escura e sussurrante, com uma única janela. Flagg levou-o até a janela sem dizer palavra, e Tomás, quando viu o panorama — a cidade de Delain inteira, as cidades-satélites, depois as montanhas que as separavam do Baronato do Leste esbatidas numa bruma azulada —, achou que aquela vista valia cada degrau que as suas pernas doloridas tinham escalado. Sentiu o peito oprimido por aquela beleza, e voltou-se para agradecer a Flagg — mas algo no borrão esbranquiçado que era a cara do bruxo dentro do capuz gelou-lhe as palavras nos lábios.
— Agora olha isto! — disse Flagg e levantou o braço.
Um jato de chama azul esguichou de seu dedo indicador, e o som sussurrante que Tomás ouvira e tomara a princípio pelo rumor do vento transformou-se num explosivo tatalar de asas coriáceas. Um instante depois, Tomás estava gritando e estapeando o ar acima da cabeça, enquanto se precipitava cegamente para a portinhola. A pequena peça circular no topo da torre leste do castelo oferecia a melhor vista de Delain, com exceção da cela no topo do Obelisco, mas agora ele entendia por que ninguém nunca ia lá. A peça era infestada de enormes morcegos. Espantados pela luz que Flagg irradiara, eles esvoaçavam e mergulhavam. Mais tarde, quando já tinham saído e Flagg acalmara o menino — Tomás, que tinha horror a morcegos, tinha ficado histérico —, o mágico insistiu em que aquilo fora apenas uma brincadeira para fazê-lo animar-se. Tomás acreditou... mas por semanas a fio acordou aos gritos com pesadelos em que bandos de morcegos voejavam sobre sua cabeça, emaranhavam-se no seu cabelo e lhe lanhavam o rosto com suas garras afiadas e seus dentes de rato.
Numa outra excursão, Flagg levou-o à câmara do tesouro real para mostrar-lhe os montes de moedas de ouro, as pilhas de ouro em barras e as grandes arcas marcadas ESMERALDAS, DIAMANTES, RUBIS, CRISÓLITOS etc.
— Estão mesmo cheias de jóias? — perguntou Tomás.
— Olhe você mesmo — disse Flagg.
Abriu uma das arcas e tirou uma mancheia de esmeraldas brutas. As pedras cintilavam em suas mãos.
— Deus do céu! — exclamou Tomás, engasgado.
— Ora, isso não é nada! Olhe isto aqui! Tesouros de piratas, Tomasinho! Mostrou a Tomás um monte de despojos, resultado da refrega com os piratas anduanos uns 12 anos antes. O Tesouro de Delain estava abarrotado, os poucos funcionários do erário estavam velhos, e aquela pilha ainda não fora separada. Tomás, boquiaberto, viu espadagões de punhos cravejados, adagas com lâminas incrustadas de diamantes serrilhados para cortar mais fundo, maças feitas de rodocrosita.
— Tudo isso pertence ao reino? — perguntou Tomás em tom de assombro.
— Tudo isso pertence ao seu pai — respondeu Flagg, embora na verdade a suposição de Tomás fosse correta. — Um dia vai tudo pertencer a Pedro.
— E a mim — disse Tomás com a confiança de um menino de dez anos.
— Não — disse Flagg, com uma ponta bem dosada de pena na voz —, somente a Pedro. Porque ele é o mais velho e será o rei.
— Ele vai dividir comigo — disse Tomás, mas com a sombra de um tremor de dúvida na voz. — Pedro sempre divide.
— Pedro é um bom menino e estou certo que você tem razão. Provavelmente ele dividirá. Mas, você sabe, ninguém pode obrigar um rei a dividir. Ninguém pode obrigar um rei a fazer o que não queira.
Olhou para Tomás a fim de avaliar o efeito da observação, depois voltou a olhar para os recessos sombrios da cripta do tesouro. Em algum lugar, um dos velhos funcionários contava monotonamente um monte de ducados.
— Um tesouro tão enorme, e tudo para um só homem — comentou Flagg. — Dá o que pensar, hein, Tomasinho?
Tomás não disse nada, mas Flagg estava satisfeito. Sabia que Tomás estava, sim, pensando naquilo, e julgava que mais um baú envenenado estaria despencando no poço da mente de Tomás... splash!E estava certo. Mais tarde, quando Pedro propôs a Tomás que dividissem o custo do vinho diário, Tomás lembrou-se da grande caverna do tesouro — e de que o tesouro pertenceria todo ao irmão. Fácil para você falar tão despreocupadamente em comprar vinho! É claro! Um dia, você vai ter toda a riqueza do mundo!
Assim, mais ou menos um ano antes de servir ao rei o vinho envenenado, num daqueles impulsos, Flagg tinha mostrado a Tomás a passagem secreta... e nessa única vez seu instinto para o mal, em geral infalível, poderia levá-lo à perdição. Mais uma vez, deixarei que julguem por vocês mesmos.
— TOMASINHO, VOCÊ PARECE que está triste! — exclamou.
Nesse dia, Flagg tinha o capuz da capa atirado para trás, e o seu aspecto era quase normal.
Quase.
Tomás estava mesmo triste. Sofrera durante todo um longo almoço em que o pai estivera elogiando para os conselheiros as notas de Pedro em navegação e geometria com mirabolantes superlativos. Rolando nunca entendera bem nenhuma das duas matérias. Sabia que um triângulo tinha três lados, e um quadrado, quatro; sabia que, caso se perdesse na floresta, podia encontrar o caminho seguindo no céu a Estrela Velha; e até aí chegava o seu conhecimento. Era também aonde chegava o conhecimento de Tomás, por isso ele teve a impressão de que o almoço não ia acabar nunca. Para piorar, a carne estava exatamente do jeito que o pai gostava — malpassada e quase crua. Carne malpassada provocava engulhos em Tomás.
— O almoço não me caiu bem, é só isso — disse ele a Flagg.
— Pois, olha, sei de algo de que você vai gostar, Tomasinho, meu rapaz — disse Flagg. — Vou mostrar-lhe um segredo do castelo.
Tomás estava brincando com um besouro. Tinha-o posto sobre sua carteira e formado em torno dele uma série de barreiras com seus livros escolares. Quando o bicho, rastejando, estava prestes a encontrar a saída, Tomás deslocava um dos livros e lhe fechava o caminho.
— Estou cansado — disse Tomás.
Não estava mentindo. Ouvir tantos elogios a Pedro sempre o deixava cansado.
— Você vai gostar — disse Flagg em tom de quase adulação... mas ao mesmo tempo um tanto ameaçador.
Tomás olhou para ele apreensivo.
— Lá não tem... não tem morcegos, tem?
Flagg deu uma risada cordial — mas que, mesmo assim, fez arrepiar os pêlos dos braços de Tomás. Deu-lhe um tapinha nas costas.
— Nada de morcegos! Nem água, nem vento! Quente e confortável! E você vai poder espiar o seu pai, Tomasinho!
Tomás sabia que “espiar” era apenas outro modo de dizer “espionar”, e sabia que espionar era errado — mas mesmo assim foi um lance sagaz. Na vez seguinte em que o besouro encontrou uma abertura para escapulir entre dois livros, Tomás deixou-o passar.
— Está bem — disse. — Mas é bom que não tenha morcegos. Flagg passou um braço em torno dos ombros do menino.
— Não há morcegos, eu juro. Há uma coisa, porém, que você deve ter em conta, Tomasinho. Você não apenas irá ver seu pai, como o verá pelos olhos do seu maior troféu.
Tomás arregalou os olhos de interesse. Flagg ficou satisfeito. O peixe estava fisgado e apanhado.
— Como assim?
— Venha e você verá — foi tudo o que se dispôs a dizer.
Conduziu Tomás por um labirinto de corredores. Vocês se teriam logo perdido, e eu mesmo provavelmente me teria perdido em pouco tempo, mas Tomás sabia o caminho tão bem quanto vocês sabem o caminho do seu quarto no escuro — ou pelo menos sabia até que Flagg o puxou para um lado.
Tinha quase chegado aos aposentos do rei, quando Flagg abriu uma porta de madeira embutida numa reentrância da parede que Tomás nunca notara. É claro que ela sempre estivera ali, mas nos castelos, com freqüência, existem portas — e até alas inteiras — que aprenderam a arte de esfumaçar-se.
Naquele ponto, o corredor era bastante estreito. Uma camareira que carregava uma pilha de lençóis passou por eles e ficou tão apavorada de encontrar o bruxo naquela exígua passagem estreita de pedra, que provavelmente teria ficado feliz se pudesse encolher e enfiar-se numa fenda entre os blocos de pedra para evitar roçá-lo. Tomás quase achou graça, porque às vezes ele próprio sentia-se um pouco assim quando Flagg estava perto. Não encontraram mais ninguém.
Vindo do andar de baixo, Tomás pôde ouvir um som abafado de latidos, e isso deu-lhe uma idéia aproximada de onde se encontrava. Os únicos cães dentro do castelo propriamente dito eram os cães de caça do pai, e provavelmente estavam latindo por estar na hora de serem alimentados. A maioria dos cães de Rolando era quase tão velha quanto ele, e por saber o quanto o frio doía nos seus próprios ossos, Rolando mandara fazer um canil para eles dentro do castelo. Para chegar aos cães pela principal sala de estar do rei, descia-se um lance de escada, virava-se à direita e percorria-se cerca de 100 metros num corredor interno. Por isso, Tomás soube que estavam a uns dez metros à direita dos aposentos privados do pai.
Flagg parou tão de repente, que Tomás por pouco não colidiu com ele. O mago olhou rapidamente em torno para assegurar-se de que estavam sozinhos na passagem. Sim, estavam.
— Quarta pedra acima da que está marcada com um entalhe — disse Flagg. — Empurre. Depressa!
Ah, ali havia mesmo um segredo, e Tomás adorava segredos. Animado, contou quatro pedras acima da lascada e empurrou. Esperava uma passagem qualquer — um painel corrediço, talvez —, mas foi apanhado inteiramente de surpresa pelo que de fato aconteceu.
A pedra deslizou com a maior facilidade, afundando uns três centímetros. Ouviu-se um clique. De repente, um trecho inteiro da parede girou para dentro, revelando uma escura fenda vertical. Não era uma parede! Era uma enorme porta! Tomás ficou boquiaberto.
Flagg deu uma palmada nas nádegas de Tomás.
— Depressa, eu disse, seu boboca! — exclamou em voz baixa. Havia urgência na sua voz, e desta vez não era apenas para impressionar Tomás, como eram muitas das suas emoções. Olhou à esquerda e à direita para ver se o corredor continuava deserto. — Agora! Vá!
Tomás olhou a fenda escura que se revelara e pensou novamente, com inquietação, em morcegos. Mas um único olhar à fisionomia de Flagg mostrou-lhe que não era hora de puxar o assunto.
Empurrou mais a porta e penetrou na escuridão. Flagg seguiu logo atrás. Tomás ouviu o leve adejar da capa do bruxo, quando este se voltou e fechou de novo a parede. A treva era total, o ar parado e seco. Antes que ele pudesse abrir a boca e dizer algo, a chama azul irrompeu bruscamente do indicador de Flagg, projetando com um som rascante um leque de luz em um tom claro de azul.
Tomás encolheu-se, sem mesmo se dar conta, e levantou os braços.
Flagg riu asperamente.
— Não há morcegos, Tomasinho. Eu não disse?
E não havia mesmo. O teto era bastante baixo, e Tomás pôde comprová-lo a si mesmo. Nada de morcegos, quente e confortável... bem como o bruxo havia prometido. À luz do facho mágico de Flagg, Tomás pôde ver também que estava numa passagem secreta de uns oito metros de comprimento. Paredes, piso e teto eram revestidos de tábuas de pau-ferro. Não via bem a extremidade, mas parecia ser perfeitamente fechada, sem saída.
Ainda podia ouvir os latidos abafados dos cachorros.
— Quando eu disse para você andar depressa, foi para valer — disse Flagg.
Ele curvou-se sobre Tomás, uma sombra vaga e agigantada que, naquela escuridão, lembrava ela mesma um morcego. Tomás recuou um passo, sentindo-se pouco à vontade. Como sempre, um odor desagradável envolvia o bruxo — um cheiro sinistro de pós e de ervas amargas.
— Agora que você sabe da passagem, não serei eu a dizer-lhe que não faça uso dela. Mas se algum dia for apanhado, você deverá dizer que a descobriu por acaso.
O vulto cresceu ainda mais perto, obrigando Tomás a recuar outro passo.
— Se disser que fui eu que lhe mostrei, Tomás, farei com que você se arrependa.
— Nunca direi — disse Tomás.
As palavras soaram fracas e trêmulas.
— Bom. Melhor ainda que ninguém nunca o veja usá-la. Espionar um rei é muito grave, príncipe ou não. Agora me acompanhe, e bico calado.
Flagg guiou-o até o fim da passagem. A parede em frente também era revestida de pau-ferro, mas quando Flagg ergueu a chama acesa na ponta do seu dedo, Tomás viu dois painéis pequenos. Flagg franziu os lábios e soprou a luz.
Na escuridão completa, cochichou:
— Nunca abra esses dois painéis com uma luz acesa. Ele poderia ver. Ele é velho, mas ainda enxerga bem. Poderia perceber algo, embora os olhos sejam de vidro colorido.
— Que...
— Pssst! Ele ainda tem bons ouvidos também.
Tomás ficou calado, o coração batendo com força no peito. Sentia uma grande excitação, sem saber bem por quê. Mais tarde concluiu que ficara emocionado porque de algum modo sabia o que ia acontecer.
No escuro, ouviu um leve som de algo deslizando, e de repente um tênue raio de luz — luz de candeeiro — iluminou a treva. Ouviu um segundo som deslizante e um segundo raio luminoso apareceu. Agora podia ver Flagg outra vez, muito indistintamente, assim como as próprias mãos quando as levantava à sua frente.
Tomás viu Flagg aproximar-se da parede e curvar-se um pouco; depois a maior parte da luz foi cortada, quando ele encostou os olhos nos dois orifícios pelos quais entravam os raios luminosos. Ele olhou por um momento, depois resmungou e afastou-se. Acenou para Tomás.
— Dê uma olhada — disse.
Mais excitado que nunca, Tomás cautelosamente encostou os olhos nos buracos. Viu bem claramente, embora tudo apresentasse um estranho aspecto amarelo-esverdeado — como se ele olhasse através de um vidro enfumaçado. Uma sensação de perfeito e deleitoso assombro cresceu nele. Estava olhando para a câmara de estar do pai. Viu o pai sentado junto ao fogo, esparramado em sua poltrona predileta — uma poltrona de grandes abas que lhe projetavam sombras no rosto vincado.
Era tipicamente o pouso de um caçador; em nosso mundo, um cômodo como aquele seria chamado por muitos de retiro, embora não fosse tão grande quanto uma casa comum. Candeeiros acesos forravam as longas paredes. Por todos os lados pendiam cabeças; cabeças de ursos, de cervos, de alces, de antílopes, de corvos-marinhos. Tinha até uma ave de cor verde considerada a rainha das plumas, parente da legendária fênix. Tomás não viu a cabeça de Niner, o dragão que o pai matara antes de ele nascer, mas naquele momento não notou o fato.
Com ar taciturno, o pai mordiscava um pedaço de bolo. Um bule de chá fumegava ao alcance da sua mão.
Era tudo o que estava acontecendo naquele grande salão, que podia comportar (e por vezes comportara) até 200 pessoas — nele estava somente seu pai, com uma manta de pele a envolvê-lo, tomando um solitário chá da tarde. Mesmo assim, Tomás ficou a observar por um tempo que parecia não acabar. A fascinação e o excitamento que experimentava ao ver o pai daquela forma era indescritível. O pulsar do coração, que já estava acelerado, redobrou. O sangue lhe zunia e martelava na cabeça. As mãos se fecharam em punhos tão cerrados que mais tarde ele descobriria manchas de sangue nas palmas.
Qual o motivo daquela euforia, simplesmente por olhar um velho a mordiscar indiferentemente uma fatia de bolo? Bem, em primeiro lugar, vocês devem se lembrar que o velho não era um velho qualquer. Era o pai de Tomás. E espiar, é lamentável dizer, tem o seu atrativo próprio. Quando podemos ver pessoas fazendo alguma coisa, e elas não nos podem ver, mesmo as ações mais triviais parecem importantes.
Passado algum tempo, Tomás começou a sentir-se um pouco envergonhado do que estava fazendo, e isso não chega a surpreender. Espiar uma pessoa é uma espécie de roubo — é roubar uma visão do que as pessoas fazem quando pensam que estão sós. Mas essa é também uma das suas principais fascinações, e Tomás poderia ter ficado olhando horas se Flagg não tivesse murmurado:
— Sabe onde você está, Tomasinho?
— Eu...
... acho que não, ia acrescentar, mas é claro que sabia. Seu sentido de orientação era bom, e pensando um pouco ele podia imaginar aquela perspectiva em sentido inverso. De repente, compreendeu a que Flagg aludira ao dizer que ele, Tomás, veria o pai através dos olhos do maior troféu de Rolando. Ele estava olhando o pai de um pouco mais que meia altura da parede oeste... e era ali que estava pendurada a maior de todas as cabeças — a de Niner, o dragão do pai.
Poderia perceber algo, embora os olhos sejam de vidro multicor. Agora entendia isso também. Teve de tapar a boca com as mãos para abafar uma risada.
Flagg fez deslizar os dois painéis de volta ao seu lugar... mas também ele estava sorrindo.
— Não! — cochichou Tomás. — Não, eu quero ver mais!
— Agora não — disse Flagg. — Por ora você já viu o bastante. Pode voltar quando quiser... se bem que se vier muitas vezes, com certeza você acabará sendo apanhado. Agora, venha. Vamos voltar.
Flagg reacendeu a chama mágica e conduziu Tomás de volta pelo corredor. No fim, apagou a luz e ouviu outro som de algo deslizando, quando ele abriu um pequeno postigo. Guiou a mão de Tomás até este de modo que ele soubesse onde era, em seguida mandou-lhe que olhasse.
— Note que pode ver a passagem nas duas direções — disse Flagg. — Tome sempre o cuidado de olhar antes de abrir a porta secreta, senão um dia você será surpreendido.
Tomás encostou o olho no postigo e viu, bem em frente, do outro lado do corredor, uma janela decorada com faces de vidro oblíquas que se ressaltavam levemente da parede. Era muito enfeite para um corredor tão secundário, mas Tomás compreendeu, sem que fosse preciso explicar-lhe, que ela fora colocada ali por quem quer que tivesse construído a passagem secreta. De fato, olhando as faces oblíquas, ele via um reflexo espectral do corredor nas duas direções.
— Ninguém? — cochichou Flagg.
— Ninguém — Tomás cochichou em resposta.
Flagg pressionou uma mola interior (outra vez guiando a mão de Tomás para futura referência) e com um leve estalido a porta abriu-se.
— Rápido, agora! — disse Flagg.
Saíram, e num segundo a porta fechou-se atrás deles.
Dez minutos depois, estavam de volta aos aposentos de Tomás.
— Emoção bastante para um dia — disse Flagg. — Lembre-se do que eu lhe disse, Tomasinho: não use a passagem com freqüência, para não ser apanhado, e se você for apanhado — os olhos de Flagg faiscaram perigosamente —, não se esqueça de que achou o lugar por acaso.
— Eu me lembrarei — disse Tomás depressa.
A voz saiu-lhe aguda e estridente como um gonzo necessitado de óleo. Quando Flagg o olhava daquele jeito, ele sentia o coração como um pássaro aprisionado no peito, esvoaçando em pânico.
TOMÁS ATENDEU AO conselho de Flagg de não ir com freqüência, mas de vez em quando fazia uso da passagem e espiava o pai através dos olhos de vidro de Niner — espiava um mundo em que tudo se tornava de ouro esverdeado. Quando saía de lá com uma dor de cabeça latejante (como quase sempre acontecia), ele pensava: Sua cabeça dói porque você estava vendo o mundo como os dragões devem vê-lo — como se tudo estivesse ressequido e a ponto de queimar. E sob este aspecto talvez o instinto de maldade de Flagg não fosse afinal tão mau, porque, espiando o pai, Tomás descobriu dentro de si um sentimento novo por Rolando. Antes de saber da passagem secreta, sentira amor por ele, muitas vezes tristeza por não poder contentá-lo melhor, e às vezes medo. Agora aprendera a sentir também desprezo.
Sempre que espiava a sala de Rolando e via o pai acompanhado, voltava imediatamente. Só se demorava quando o pai estava só. No passado, raramente isso tinha acontecido, mesmo em cômodos como o seu retiro, que era parte dos seus “aposentos privados”. Havia sempre mais um assunto urgente a atender, mais um conselheiro a receber, mais uma petição a escutar.
Mas o tempo da força de Rolando estava passando. Agora que a sua importância declinava juntamente com a saúde, ele se via a recordar todas as vezes que exclamara para Sacha ou para Flagg: “Quando é que essa gente vai me dar sossego?” A lembrança trazia-lhe aos lábios um sorriso de melancolia. Agora que o deixavam sossegado ele sentia falta deles.
Tomás sentiu desprezo porque as pessoas, quando estão sozinhas, raramente mostram o seu lado mais brilhante. Em geral, tiram a sua máscara de polidez, disciplina e boa educação. O que há por baixo? Algum monstro verrugoso? Algo repulsivo, capaz de levar os outros a fugir gritando? Às vezes, talvez, mas geralmente nada de tão exagerado. Em geral, as pessoas simplesmente achariam graça se nos vissem sem a nossa máscara — ririam, fariam cara de nojo, ou as duas coisas ao mesmo tempo.
Tomás viu que o pai, que ele sempre amara e temera, que lhe parecera o maior homem do mundo, muitas vezes, quando estava só, metia o dedo no nariz. Esgravatava primeiro uma narina, depois a outra, até formar uma meleca verde e bem redonda. Contemplava cada uma com satisfação solene, virando-a de um lado para outro à luz do fogo, ao modo de um joalheiro examinando uma esmeralda especialmente fina. A maioria ele esfregava em seguida debaixo da cadeira em que estava sentado. Outras, é triste dizer, metia na boca e mastigava com uma expressão meditativa no rosto.
À noite, só tomava um copo de vinho — o copo que Pedro lhe levava —, mas depois que Pedro saía, bebia o que a Tomás se afigurava uma imensa quantidade de cerveja (só anos mais tarde Tomás veio a compreender que o pai não queria que Pedro o visse embriagado), e quando tinha vontade de urinar, raramente usava a latrina a um canto do salão. O mais das vezes simplesmente levantava e mijava no fogo, não raro peidando ao mesmo tempo.
Falava sozinho. Às vezes caminhava à volta da grande sala como quem não tivesse certeza de onde estava, falando ou para o ar ou para as cabeças fixadas às paredes.
“Eu me lembro do dia em que o pegamos, Bonsey”, dizia a uma cabeça de alce (outra das suas excentricidades era que tinha dado nomes a todos os seus troféus), “eu estava com Bill Squathings e aquele sujeito que tinha um calombo na cara. Me lembro de como você apareceu entre as árvores e Bill disparou, e depois o sujeito do calombo disparou, e depois eu disparei...”
E o pai demonstrava como disparara, levantando uma perna e peidando, enquanto fazia o gesto de distender um arco e largar. E soltava uma gargalhada de velho, estridente e desagradável.
Depois de certo tempo, Tomás fechava os pequenos painéis corrediços e se esgueirava de volta pelo corredor, a cabeça latejando e um sorriso amarelo na face — a cabeça e o sorriso de um menino que comeu maçãs verdes e sabe que na manhã seguinte talvez vá sentir-se pior do que agora.
Era aquele o pai que ele sempre amara e temera?
Era um velho que peidava, produzindo fedorentas nuvens de vapor.
Era aquele o rei que os súditos leais chamavam de Rolando, o Bom?
Ele mijava no fogo, fazendo subir outras nuvens de vapor.
Ele conversava com as cabeças empalhadas penduradas na parede, chamando-as por nomes estapafúrdios como Bonsey e Stag-Pool e Puckerstring; metia o dedo no nariz e às vezes comia as melecas.
Eu não gosto mais de você, pensava Tomás, espiando no postigo para assegurar-se de que não havia ninguém no corredor e, depois, se esgueirando de volta ao seu quarto como um malfeitor. Você é um velho imbecil e porco, e para mim não vale nada! Nada! Nada!
Mas não era verdade. Uma parte dele continuava a amar Rolando como antes — uma parte dele queria ir ao encontro do pai para que o pai tivesse algo melhor com que falar que não um monte de cabeças empalhadas nas paredes.
No entanto, havia aquela outra parte dele que preferia espiar.
A NOITE EM QUE Flagg se dirigiu aos aposentos privados de Rolando com o copo de vinho envenenado foi a primeira vez, depois de muito tempo, que Tomás se arriscava a espiar. Houve para isso um bom motivo.
Certa noite, uns três meses antes, Tomás perdera o sono. Remexia-se e revirava-se na cama, até que ouviu a sentinela do castelo anunciar as 11 horas. Levantou-se, vestiu-se e saiu do quarto. Menos de dez minutos depois, estava a espreitar o retiro do pai. Julgara que o pai devia estar dormindo, mas não estava. Rolando estava acordado e completamente embriagado.
Tomás vira o pai embriagado muitas vezes antes, mas nunca, nem de longe, no estado em que agora se encontrava. O menino ficou estarrecido e apavorado.
Há pessoas bem mais velhas do que Tomás que acham a velhice uma idade pacata — que um velho pode dar mostras de sabedoria serena, de uma rabugice ou manha moderada, talvez a mansa confusão da senilidade. Admitem isso, mas custam a acreditar que ainda possa haver alguma chama. Alimentam a ilusão de que, por volta dos 70 anos, toda chama deve ter-se reduzido a brasas. Pode ser verdade, mas Tomás naquela noite descobriu que as brasas às vezes podem acender-se violentamente.
O pai caminhava em grande agitação de um lado para outro, em todo o comprimento do salão de estar, a manta de pele esvoaçava atrás dele. O gorro de dormir tinha caído; os cabelos que lhe restavam na cabeça pendiam em fiapos despenteados, principalmente em torno das orelhas. Não cambaleava, como em outras noites, movendo-se às apalpadelas com uma das mãos estendida para evitar chocar-se com os móveis. Gingava como um marinheiro, mas não cambaleava. Quando aconteceu esbarrar em uma das cadeiras de espaldar alto arrumadas junto a uma parede, debaixo da cabeça de lince com as presas à mostra, Rolando atirou a cadeira para um lado com um urro que fez Tomás encolher-se e os pêlos dos seus braços se eriçarem. A cadeira de pau-ferro rachou-se ao meio. Em sua fúria alcoólica, o velho rei recobrara a força de sua meia-idade. Encarou a cabeça de lince acima dele com olhos vermelhos que faiscavam.
— Morda-me! — vociferou para ela. A aspereza brutal da voz dele fez Tomás encolher-se outra vez. — Morda-me, está com medo? Desça dessa parede! Pule daí! Aqui está o meu peito, está vendo? — Abriu a manta com violência, descobrindo o peito descarnado. Arreganhou os poucos dentes para os muitos da fera e deitou a cabeça para trás. — Aqui está minha garganta! Venha, pule! Acabo com você com estas mãos! Arranco-lhe as tripas fedorentas!
Ficou por algum tempo imóvel, o peito empinado e a cabeça para trás, parecendo ele próprio um animal — talvez um velho cervo, acuado e sem mais esperanças que a de morrer com dignidade. Depois, afastou-se rapidamente e parou à frente de uma cabeça de urso para brandir um punho para ele e rugir uma série de pragas — tão terrível que Tomás, encolhendo-se no escuro, imaginou que o espírito ultrajado do urso poderia baixar de repente e dilacerar o pai debaixo dos seus olhos.
Mas Rolando afastou-se outra vez. Apanhou o caneco, emborcou-o, depois rodopiou com cerveja a escorrer-lhe pelo queixo. Arremessou o caneco de prata para o outro lado da sala, onde ele bateu numa quina de pedra da lareira com força bastante para amassar o metal.
Em seguida, o pai cruzou a sala em direção a ele, atirando outra cadeira para fora do caminho, empurrando violentamente uma mesa para um lado com o pé descalço. Os olhos soltavam chispas... e vieram encontrar os de Tomás. Isso mesmo — encontraram os dele. Tomás sentiu que os olhares se pregavam um no outro, e um terror cinzento e vertiginoso invadiu-o como um hálito gelado.
O pai arremeteu para ele, os dentes amarelados à mostra, os cabelos ralos escorridos nas orelhas, cerveja a gotejar do queixo e dos cantos da boca.
— Você — Rolando sussurrou numa voz baixa e terrível. — Por que está aí a me olhar? O que espera ver?
Tomás ficou paralisado. Descoberto, gaguejava mentalmente, descoberto, por todos os deuses passados e futuros, fui pilhado e sem dúvida nenhuma vou ser exilado!
O pai estava ali parado, os olhos fixos na cabeça do dragão. Em sua culpa, Tomás estava certo de que o pai se referia a ele, mas não era isso — Rolando simplesmente estava falando com Niner como falara às outras cabeças. Mas, se Tomás podia ver de dentro para fora através dos olhos vítreos coloridos, o pai poderia ver de fora para dentro, pelo menos até certo ponto. Não estivesse Tomás petrificado de pavor, teria fugido em pânico; e ainda que tivesse tido sangue-frio bastante para se manter na posição, os olhos certamente teriam se mexido. E se Rolando percebesse algum movimento nos olhos do dragão, o que teria pensado? Que o dragão voltava à vida? É possível. No estado de embriaguez em que estava, acho até provável. Se Tomás naquele instante tivesse ao menos piscado, Flagg não iria precisar mais tarde fazer uso do veneno. O rei, velho e debilitado apesar do efêmero vigor que a bebida lhe proporcionava, com toda a clareza teria morrido de susto.
De repente Rolando deu um salto para a frente.
— Por que me olha? — esganiçou-se e, em seu delírio, era para Niner, o último dragão de Delain, que ele gritava, mas, naturalmente, Tomás não entendeu isso. — Por que me olha desse jeito? Eu fiz o melhor que pude, sempre o melhor que pude! Fui eu que pedi isto? Fui eu? Responda, maldito! Eu fiz o melhor que pude e olhe para mim agora! Olhe só para mim!
Abriu a manta por completo, mostrando o corpo nu e, baixando a vista, olhou para si mesmo, chorando.
Tomás não agüentou mais. Fechou os painéis atrás dos olhos do dragão no exato instante em que o pai tirava os olhos de Niner para contemplar o próprio corpo devastado. Correu aos tropeços pela passagem escura e chocou-se com toda a força contra a porta fechada, caindo no chão aturdido. Num instante estava de pé, sem se dar conta do sangue que lhe escorria pelo rosto de um corte na testa, socando a mola secreta até que a porta se abriu. Precipitou-se para o corredor sem nem pensar em verificar se havia alguém que pudesse vê-lo. Só conseguia enxergar os olhos injetados e faiscantes do pai, a única coisa que ouvia era a voz dele gritando: Por que me olha?
Não tinha como saber que o pai já caíra num sono de profunda embriaguez. Na manhã seguinte, Rolando acordou ainda estendido no chão, e seu primeiro gesto, apesar da atroz dor de cabeça e do corpo contundido e latejante (Rolando era velho demais para aqueles descomedimentos), foi olhar para a cabeça do dragão. Raramente ele sonhava depois de uma bebedeira — tudo o que havia era um lapso de densa escuridão. Mas na noite passada tivera um sonho horrível: os olhos de vidro do dragão tinham-se movido e Niner revivera. A besta soprara sobre ele seu hálito mortal, e embora ele não visse o fogo, pudera senti-lo bem no fundo de si mesmo, quente e cada vez mais quente.
Com o sonho ainda vivo na memória, teve medo do que iria ver quando olhasse para cima. Mas estava tudo como sempre desde muitos anos. Niner arreganhando a goela ameaçadora, a língua bifurcada pendendo entre os dentes quase tão compridos como paus de cerca, os olhos de ouro esverdeado olhando cegamente a sala. Ritualmente cruzados acima do fabuloso troféu, viam-se o grande arco de Rolando e a flecha Martelo do Inimigo, a ponta e a haste ainda negras do sangue do dragão. Certa vez ele falou desse terrível sonho a Flagg, que se limitou a balançar a cabeça e pareceu mais pensativo do que de costume. Depois, simplesmente Rolando o esqueceu.
Para Tomás não foi tão fácil esquecer.
Durante semanas ele teve o sono agitado por pesadelos. Neles o pai o fitava nos olhos e gritava: Olhe o que você fez comigo!, e abria a manta para expor sua nudez — velhas cicatrizes vincadas, músculos flácidos, o ventre descaído — como a dizer que fora tudo culpa de Tomás, que se ele não tivesse espionado...
— Por que de uns tempos para cá você nunca quer ver o pai? — perguntou-lhe Pedro um dia. — Ele acha que você está zangado com ele.
— Eu zangado com ele? — Tomás estava estupefato.
— Foi o que ele disse hoje à hora do chá — disse Pedro. Olhou atentamente para o irmão, observando-lhe as olheiras roxas, a palidez das faces e da testa. — Tomasinho, o que está havendo?
— Talvez nada — disse Tomás devagar.
No dia seguinte, tomou chá com o pai e o irmão. Foi preciso reunir toda a sua coragem, mas Tomás tinha coragem e, às vezes, a encontrava — geralmente quando de costas contra a parede. O pai beijou-o e perguntou se ele tinha algum problema. Tomás murmurou que não andara se sentindo muito bem, mas que agora estava ótimo. O pai acenou com a cabeça, deu-lhe um abraço rude, em seguida voltou ao seu comportamento habitual — que consistia essencialmente em ignorar Tomás em favor de Pedro. Desta vez pelo menos, Tomás achou isso bom — não queria ter o pai olhando para ele mais que o necessário, ao menos por algum tempo. Nessa noite, deitado na cama sem dormir por longo tempo e escutando o gemido do vento lá fora, chegou à conclusão de que escapara por um triz... e que de algum modo se safara.
Mas nunca mais, pensou. Nas semanas seguintes, os pesadelos foram-se espaçando. Até que cessaram de vez.
No entanto, o chefe dos cavalariços do castelo, Yosef, tinha razão numa coisa: meninos às vezes são mais propensos a fazer promessas que a mantê-las, e o desejo de Tomás de espiar o pai acabou por suplantar tanto os temores quanto as boas intenções. E, assim, aconteceu de, na noite em que Flagg serviu a Rolando o vinho envenenado, Tomás estar ali espreitando.
QUANDO TOMÁS CHEGOU lá e correu os dois painéis pequenos, o pai e o irmão estavam acabando de beber os seus copos de vinho de todas as noites. Pedro tinha agora quase 17 anos, era alto e bonito. Os dois estavam sentados junto ao fogo, bebendo e conversando como velhos amigos, e Tomás sentiu o antigo ódio corroer-lhe como ácido o coração. Momentos depois, Pedro levantou-se e despediu-se do pai delicadamente.
— Nas últimas noites você tem saído cada vez mais cedo — observou Rolando. Pedro esboçou alguns protestos.
Rolando sorriu. Era um sorriso terno e triste, quase totalmente desdentado.
— Ouvi dizer — comentou — que ela é linda.
Pedro mostrou-se atrapalhado, o que não era comum nele. Gaguejou, o que era ainda menos comum.
— Vá — interrompeu Rolando. — Vá. Trate bem dela e seja gentil... mas seja ardente, se há ardor em você. Os anos da velhice são frios, Pedro. Seja ardente enquanto seus anos são verdes e há carvão em abundância, e o fogo pode arder com força.
Pedro sorriu.
— Você fala como se fosse muito velho, pai, mas a mim ainda me parece forte e vigoroso.
Rolando abraçou Pedro.
— Eu amo você, filho — disse.
Pedro sorriu sem acanhamento ou embaraço.
— Eu também amo você, papai — respondeu.
E, em sua treva solitária (espiar é sempre uma atividade solitária, e o espião quase sempre a pratica no escuro), Tomás fez um esgar horrível.
Pedro saiu, e durante uma hora ou mais quase nada aconteceu. Rolando manteve-se sentado ao pé do fogo, taciturno, bebendo intermináveis copos de cerveja. Não urrou nem berrou nem conversou com as cabeças das paredes; não houve danos à mobília. Tomás já tinha quase resolvido retirar-se, quando ouviu uma dupla batida na porta.
Rolando estivera olhando para o fogo, quase hipnotizado pelo tremular das chamas. Despertou e falou em voz alta:
— Quem vem lá?
Tomás não ouviu a resposta, mas o pai levantou e dirigiu-se à porta como se tivesse ouvido. Abriu-a, e a princípio Tomás imaginou que o hábito do pai de falar com as cabeças das paredes tivesse adquirido uma nova e excêntrica feição — que agora o pai estivesse inventando uma invisível companhia humana para aliviar o tédio.
— Estranho vê-lo aqui a esta hora — disse Rolando, aparentemente voltando para junto da lareira em companhia de ninguém. — Pensei que você ficasse sempre às voltas com suas sortes e conjuros depois de escurecer.
Tomás piscou, esfregou os olhos e viu que realmente havia alguém ali. Por um momento não percebeu direito quem... e admirou-se de ter julgado que o pai estivesse só, quando Flagg estava bem ali ao lado dele. Flagg trazia dois copos de vinho numa bandeja de prata.
— Crendices, Majestade, mágicas conjuram a qualquer hora do dia ou da noite. Mas, naturalmente, temos de manter a nossa imagem tenebrosa.
A cerveja sempre estimulava o senso de humor de Rolando, de um modo que freqüentemente o fazia rir do que não tinha qualquer graça. Àquela observação, ele atirou a cabeça para trás e gargalhou como se fosse a melhor piada que já ouvira. Flagg esboçou um sorriso.
Passado o acesso de hilaridade, Rolando disse:
— O que é isso? Vinho?
— Seu filho é pouco mais que um menino, mas o seu devotamento ao pai e reverência ao seu rei me envergonharam a mim que sou adulto — disse Flagg. — Trouxe-lhe um copo de vinho, meu rei, para demonstrar-lhe que eu também te amo.
Estendeu-o a Rolando, que pareceu absurdamente emocionado.
Não beba, pai!, pensou Tomás de repente — sua mente foi tomada de uma apreensão que ele não era capaz de explicar. Num gesto repentino, Rolando ergueu e pendeu para um lado a cabeça, quase como se tivesse ouvido.
— É um bom menino, o meu Pedro — disse Rolando.
— De fato — respondeu Flagg. — Todos no reino o dizem.
— É mesmo? — perguntou Rolando, em sinal de contentamento. — É o que dizem?
— Sim, é o que dizem. Que tal bebermos a ele? — Flagg levantou o seu copo. Não, pai!, Tomás gritou de novo mentalmente, mas se é que o pai lhe ouvira o primeiro pensamento, não ouviu desta vez. Seu rosto resplandecia de amor pelo irmão mais velho de Tomás.
— A Pedro, então! — Rolando ergueu o copo de vinho envenenado.
— A Pedro! — concordou Flagg sorrindo. — Ao rei!
Tomás encolheu-se no escuro. Flagg está fazendo dois brindes diferentes! Não sei o que ele pretende, mas... pai!
Desta vez foi Flagg que voltou para a cabeça do dragão por um momento o seu olhar soturno e pensativo, como se ele ouvisse o pensamento. Tomás ficou imóvel e, em seguida, Flagg tornou a olhar para Rolando.
Eles fizeram um brinde e beberam. Quando o pai esvaziou o copo de vinho, Tomás sentiu uma ponta de gelo penetrar-lhe o coração.
Flagg voltou-se a meio na cadeira e atirou o copo no fogo.
— A Pedro!
— A Pedro! — ecoou Rolando, e atirou o seu. O copo despedaçou-se contra a alvenaria enegrecida do fundo da lareira e caiu nas chamas, que por um momento pareciam radiar um sinistro fulgor esverdeado.
Rolando levou a mão à boca por um momento, como para abafar um arroto.
— Juntou-lhe algum tempero? — perguntou. — Pareceu-me... meio quente.
— Não, Majestade — disse Flagg gravemente, mas Tomás julgou entrever um sorriso atrás da máscara de gravidade do bruxo, e o aguilhão de gelo enterrou-se mais fundo em seu coração. De repente não quis mais saber de espiar, nunca mais. Fechou as vigias e se esgueirou de volta ao seu quarto. Amanheceu com febre. Antes que ficasse bom, o pai estava morto, o irmão prisioneiro na cela do topo do Obelisco, ele era um rei sem ter completado os 12 anos — Tomás, o Portador da Luz, foi ele intitulado nas cerimônias de coroação. E quem era o seu primeiro-conselheiro?
Adivinhem.
QUANDO DEIXOU ROLANDO (àquela altura o velho estava se sentindo mais aceso do que nunca, um sinal seguro de que a areia-de-dragão estava agindo), Flagg voltou ao seu covil subterrâneo. Apanhou a pinça e o pacote com os poucos grãos que restavam da areia e os pousou sobre a sua grande mesa. Depois, virou a ampulheta e retomou a leitura.
Fora, o vento uivava e gemia — mulheres encolhiam-se na cama, dormiam mal e diziam aos maridos que Rhiannon, a Bruxa Negra do Caos, cavalgava sua vassoura maldita naquela noite, e alguma maldade estava em andamento. Os maridos resmungavam, viravam para o outro lado, diziam às mulheres que tratassem de dormir e que os deixassem em paz. Em sua maioria, eram sujeitos boçais; para agourar desgraças não há como o sexto sentido das mulheres.
Em dado instante, uma aranha roçou à meia altura o livro aberto de Flagg, tocou um sortilégio tão terrível que nem o próprio bruxo se atrevia a usá-lo e, instantaneamente, transformou-se em pedra.
Flagg sorriu.
Quando a ampulheta se esgotou, virou-a novamente. E outra vez. E mais outra. Ao todo, virou-a oito vezes, e quando a oitava hora de areia estava quase no fim, aplicou-se em completar o seu trabalho. Num compartimento escuro, embaixo do Vestíbulo do gabinete, ele mantinha uma porção de bichos, e foi para lá que se dirigiu primeiro. As pequenas criaturas se agachavam e corriam assustadas quando Flagg se aproximava. Ele compreendia que tinham motivos para isso.
No canto mais distante, havia uma gaiola de palha com seis camundongos cinzentos — iguais aos que havia por todo o castelo, e isso era importante. Também havia ali enormes ratazanas, mas nessa noite não era de uma ratazana que Flagg precisava. O Grande Rato Real lá em cima fora envenenado; um simples camundongo bastaria para assegurar que o crime fosse imputado ao Ratinho Real. Se tudo corresse bem, logo Pedro estaria tão firmemente trancado como aqueles camundongos.
Flagg meteu a mão na gaiola e tirou um deles. O bichinho tremia violentamente na sua mão fechada. Ele lhe sentia o rápido pulsar do coração, e sabia que, se simplesmente ficasse a segurá-lo, em pouco tempo ele morreria de pavor.
Flagg apontou o dedo mínimo da mão esquerda para o camundongo. Por um momento acendeu-se na unha um leve clarão azul.
— Durma — ordenou o bruxo, e o rato caiu de lado e adormeceu na palma de sua mão.
Flagg levou-o para o gabinete e o depôs na mesa, onde antes tinha estado o peso de papéis de obsidiana. Em seguida, foi à sua despensa, tirou um pouco de hidromel de uma tina de carvalho, derramou-o num pires e adoçou-o com mel. Pôs o pires sobre a mesa, saiu para o corredor e novamente encheu os pulmões junto à janela.
Prendendo a respiração, voltou e pegou a pinça para pôr todos os grãos de areia-de-dragão, menos três ou quatro, no hidromel adoçado. Abriu outra gaveta da mesa e apanhou um novo invólucro, este vazio. Então, enfiando a mão até o fundo da gaveta, retirou um cofre muito especial.
O novo invólucro era encantado, mas a sua magia não era muito forte. Só resistiria à areia-de-dragão durante um curto tempo. Depois a areia começaria a atacar o papel. Não lhe atearia fogo, estando dentro do cofre: não haveria ar suficiente para tanto. Mas queimaria sem chama e produziria fumaça, e isso bastaria. Isso seria excelente.
Flagg tinha o peito convulso, ansiando por ar, mas ainda se demorou um momento a olhar o cofre e felicitar-se. Ele o roubara dez anos antes. Se na ocasião alguém lhe perguntasse por que ele se apossara do pequeno cofre, ele não saberia dizer, como não soubera por que tinha mostrado a Tomás a passagem secreta que levava à cabeça do dragão — o instinto de maldade disse-lhe que o pegasse e que encontraria utilidade para ele, e Flagg obedeceu. Depois de tantos anos engavetado, tinha chegado a hora de demonstrar sua utilidade.
Na tampa do cofre estava gravado PEDRO.
Sacha o tinha dado de presente ao filho; por um instante, ele o tinha deixado em cima de uma mesa numa galeria ao correr para buscar algo; Flagg passou por ali, viu-o e meteu-o no bolso. Pedro, naturalmente, ficou desolado, e quando um príncipe se aborrece — mesmo um príncipe de apenas seis anos — as pessoas se preocupam. Houve uma busca, mas o cofrezinho nunca mais foi encontrado.
Usando a pinça, Flagg com muito cuidado transferiu os últimos grãos da areia-de-dragão do invólucro original, que tinha sido completamente encantado, para o outro, que só fora encantado em parte. Em seguida, foi ao corredor para tomar novo fôlego junto à janela. Só tornou a respirar depois que o segundo pacote foi depositado no cofre de madeira, com ele a pinça, a tampa do cofre fechada devagar, e o pacote original atirado ao esgoto.
A partir daí, Flagg passou a agir rapidamente, mas sentia-se seguro. Camundongo, dormindo; cofre, fechado; prova incriminadora devidamente encerrada. Tudo em ordem.
Apontando o dedo mínimo da mão esquerda para o camundongo que jazia estendido na mesa como um tapete de pele para uso de duendes, Flagg ordenou:
— Acorde!
Os pés do camundongo se agitaram. Os olhos se abriram. A cabeça se ergueu. Sorrindo, Flagg fez com o dedo um movimento giratório e disse:
— Corra.
O camundongo pôs-se a correr em círculos. Flagg sacudiu o dedo para cima e para baixo.
— Salte.
O camundongo passou a saltitar sobre as patas traseiras como um cachorrinho num espetáculo de feira, revirando os olhos de medo.
— Agora beba — disse Flagg, e apontou o dedo mínimo para o pires que continha o hidromel adoçado.
Lá fora, o sopro do vento cresceu, tornando-se um bramido. Do outro lado da cidade, uma cadela pariu uma ninhada de filhotes de duas cabeças. O camundongo bebeu.
— Agora — ordenou Flagg, depois de o camundongo ter bebido bastante veneno para servir ao seu propósito — durma outra vez.
O camundongo dormiu.
Flagg correu aos aposentos de Pedro. O cofre estava em um dos seus muitos bolsos — os mágicos sempre têm uma porção de bolsos —, e o camundongo adormecido em outro. Passou por vários criados e por uma barulhenta malta de cortesãos embriagados, mas ninguém o viu. Ele ainda estava esfumado.
A entrada dos quartos de Pedro estava trancada, mas isso não era problema para um dos talentos de Flagg. Três passes com as mãos, e a porta se abriu. Os aposentos do príncipe estavam vazios, é claro: o rapaz estava com a namorada. Flagg não sabia a respeito de Pedro tanto quanto sabia a respeito de Tomás, mas sabia o bastante — sabia, por exemplo, onde Pedro guardava os poucos tesouros que achava necessário esconder.
Flagg foi direto à estante de livros e tirou do lugar três ou quatro volumosos compêndios. Fez pressão num friso de madeira e ouviu o estalido de uma mola saltando. Depois, fez deslizar um painel, pondo à mostra um nicho no fundo da estante. Nem mesmo estava trancado. No nicho havia uma fita de cabelo de seda, lembrança da namorada, um maço de cartas dela para ele, algumas cartas dele para ela, tão ardorosas que ele não tivera coragem de mandá-las, e um pequeno medalhão com um retrato da mãe.
Flagg abriu o cofre gravado e com grande cuidado retalhou um canto da aba do pacote, de forma que parecesse que um rato estivera a roê-la. Fechou de novo a tampa e pôs o cofre no escaninho.
— Você chorou quando perdeu este cofre, meu querido Pedro — murmurou. — Acho que vai chorar mais ainda quando ele for encontrado. — E riu estrepitosamente.
Pôs o rato adormecido junto ao cofre, fechou o compartimento e arrumou os livros de volta em seus lugares.
Em seguida, saiu e dormiu bem. Uma grande maldade estava em andamento, e ele estava convencido de que agira como gostava de agir — atrás dos bastidores, sem ser visto por ninguém.
NOS TRÊS DIAS SEGUINTES, o rei Rolando mostrou-se saudável, mais forte e mais decidido do que o tinham visto em anos — era o que se comentava na corte. Visitando o irmão doente e febril em seu quarto, Pedro contou a Tomás com assombro que o pouco que restava dos cabelos do pai parecia estar mudando de cor: a penugem banca de bebê que lhe caracterizara nos últimos quatro anos estava adquirindo um tom cinzento ferroso semelhante à cor dos anos maduros de Rolando.
Tomás sorriu, mas um novo calafrio o percorreu. Pediu a Pedro mais um cobertor, mas na verdade não era de um cobertor que precisava; precisava apagar a visão daquele estranho brinde final, e isso, é claro, era impossível.
No terceiro dia, depois do jantar, Rolando se queixou de indigestão. Flagg propôs que se chamasse o médico da corte. Rolando repeliu a sugestão, dizendo que se sentia bem, por sinal melhor do que se sentira em meses, em anos...
Arrotou. Foi um som longo, árido e estrondoso. A multidão festiva que enchia o salão de baile fez silêncio com espanto e apreensão, quando o rei se dobrou sobre si mesmo. Os músicos a um canto pararam de tocar. Quando Rolando endireitou o corpo, um arquejo de susto se espalhou entre os presentes. As faces do rei tinham tomado a cor do fogo. Lágrimas fumegantes corriam-lhe dos olhos. Mais fumaça escapava-lhe da boca.
Havia umas 70 pessoas no imenso salão de baile — ginetes (o que chamaríamos de cavaleiros, suponho) em trajes rudes, áulicos garridos com suas damas, camaristas, cortesãs, músicos, bufões, a um canto uma pequena troupe de atores que mais tarde iria apresentar uma peça, criados em grande número. Mas foi Pedro quem correu para o pai; foi Pedro que todos viram dirigir-se ao homem condenado, e isso não desagradou a Flagg nem um pouco.
Pedro. Eles se lembrariam de que fora Pedro.
Rolando comprimiu o estômago com uma das mãos e o peito com a outra. De repente, jorrou-lhe fumaça da boca num tom branco-acinzentado. Era como se o rei tivesse aprendido um novo e surpreendente modo de contar a história do seu grande feito.
Mas não era um truque, e ouviram-se gritos quando esguichou fumaça não só da sua boca como das narinas, dos ouvidos e dos cantos dos olhos. A garganta, de tão vermelha, estava quase roxa.
— Dragão! — gritou o rei Rolando ao sucumbir nos braços do filho. — Dragão!
Foi sua última palavra.
O VELHO ERA RESISTENTE — incrivelmente resistente. Antes de morrer, irradiava um calor tão intenso, que ninguém, nem mesmo os servidores mais leais, podia se chegar a menos de um metro e meio da cama. Várias vezes jogaram baldes de água no pobre rei moribundo, quando viam que os lençóis se iam chamuscando. A cada vez, a água instantaneamente transformava-se em vapor, que se espalhava em nuvens pelo quarto e invadia a sala de estar, onde cavalheiros e cortesãos aguardavam em silêncio aparvalhado e damas formavam grupos chorando e torcendo as mãos.
Pouco antes da meia-noite, um jato de chama verde rompeu-lhe da boca e ele morreu.
Flagg solenemente dirigiu-se à porta entre o quarto de dormir e a sala de estar e anunciou a nova. Seguiu-se um silêncio total, que durou mais de um minuto. Quebrou-o uma única palavra partida de algum ponto da aglomeração. Flagg não soube quem a pronunciara, nem lhe interessava saber. Bastava que tivesse sido dita. Na verdade, teria subornado alguém para dizê-la, se isso pudesse ser feito sem risco para si.
— Assassinato! — disse aquele alguém.
Houve um arquejo coletivo.
Flagg levou uma mão solene à boca para esconder um sorriso.
À PALAVRA O MÉDICO da corte acrescentou mais duas: Assassinato por envenenamento. Não disse assassinato por areia-de-dragão, pois ninguém em Delain, a não ser Flagg, conhecia esse veneno.
O rei morreu pouco antes da meia-noite, e, ao amanhecer, a acusação corria de boca em boca na cidade e se espalhava aos quatro ventos, chegando até os últimos confins dos Baronatos do Leste, do Oeste, do Norte e do Sul: assassinato, regicídio, Rolando, o Bom, envenenado.
Já antes disso Flagg organizara uma busca no castelo, desde o seu ponto mais alto (a torre Leste) até o mais baixo (a Prisão da Inquisição, com seus ecúleos, grilhões e torniquetes). Qualquer indício relacionado àquele crime terrível, disse ele, tinha de ser descoberto e imediatamente denunciado.
A busca no castelo se fez com grande confusão. Seiscentos homens vasculharam tudo com impaciência feroz. Somente duas pequenas áreas do castelo foram poupadas: os aposentos dos dois príncipes, Pedro e Tomás.
Tomás mal se deu conta do que se passava; a febre tinha subido a um ponto de alarmar seriamente o médico da corte. Quando a primeira luz da manhã se insinuou pelas janelas, ele jazia em delírio. Em seus olhos, via dois copos de vinho sendo erguidos e ouvia incessantemente o pai dizer: Juntou-lhe algum tempero? Pareceu-me meio quente.
Flagg ordenara a busca, mas por volta das duas da madrugada Pedro se recobrara do choque a ponto de assumir o comando. Flagg não se opôs. As próximas horas seriam de terrível importância, um lapso de tempo em que tudo podia ser ganho ou perdido, e Flagg sabia disso. O rei estava morto; o reino estava momentaneamente sem governo. Mas não por muito tempo: nesse mesmo dia, Pedro seria coroado rei ao pé do Obelisco, a menos que a culpa do crime recaísse no rapaz pronta e conclusivamente.
Em outras circunstâncias, Flagg sabia, Pedro seria o primeiro suspeito. Sempre se suspeita dos que mais têm a lucrar, e Pedro tinha um grande ganho com a morte do pai. Veneno era horrível, mas tinha-lhe valido um reino.
Só que no presente caso a população do reino não falava do ganho do rapaz, mas da perda que ele sofrera. É claro, Tomás também tinha perdido o pai, acrescentavam depois de uma pausa — quase como envergonhados do lapso momentâneo. Mas Tomás era um menino arisco, rabugento e inepto, que não poucas vezes contrariara o pai. Já a afeição e o respeito de Pedro por Rolando eram do conhecimento de todos. E por que, perguntariam as pessoas — se a monstruosa idéia fosse ao menos considerada, e até aqui não o fora —, por que Pedro mataria o pai pela coroa, se decerto iria herdá-la em um ano, ou três, ou cinco?
Contudo, se a prova do crime fosse achada num lugar secreto só conhecido de Pedro — um lugar na própria câmara do príncipe —, tudo logo mudaria de figura. Passariam a ver, sob a máscara do amor e do respeito, a face de um assassino. Argumentariam que, para os jovens, um ano pode afigurar-se como três, e três como nove, e cinco como 25. Depois comentariam que o rei, em seus últimos dias de vida, parecera estar saindo de um longo período de adversidade — parecera estar voltando a ser sadio e vigoroso. Talvez, diriam, Pedro tivesse julgado que o pai estava entrando em um longo e saudável veranico, tivesse perdido a cabeça e praticado um ato tão tolo quanto monstruoso.
Flagg sabia mais: sabia que o povo alimenta uma profunda desconfiança instintiva em relação a príncipes e reis, porque são pessoas que podem com um único gesto ordenar-lhes a morte, e por crimes tão fúteis como deixar cair um lenço em sua presença. Grandes reis são amados, reis não tão grandes são tolerados; reis futuros representam uma incógnita temível. Eles poderiam amar Pedro, se lhes fosse dada a oportunidade; Flagg, porém, sabia que também não tardariam a condená-lo, se provas suficientes lhes fossem apresentadas.
Flagg pensou que a prova muito em breve surgiria.
Um simples camundongo. Diminuto... mas, a seu modo, bem grande para abalar um reino em seus próprios alicerces.
EM DELAIN, HAVIA unicamente três etapas de existência: infância, adolescência e idade adulta. A fase intermediária ia dos 14 aos 18 anos.
Quando Pedro entrou na adolescência, as amas rabugentas foram substituídas por um mordomo, Brandon, e Denis, filho de Brandon. Brandon deveria ser mordomo de Pedro por uns tantos anos, mas não para sempre, decerto. Pedro era muito jovem e Brandon beirava os 50 anos. Quando Brandon não fosse mais capaz de trabalhar como mordomo, Denis assumiria. A família Brandon fornecia mordomos à realeza havia quase 800 anos, e tirava disso um justo orgulho.
Denis acordava diariamente às cinco da manhã, vestia-se, arrumava a roupa do pai e lustrava-lhe os sapatos. Depois, meio às tontas, ia à cozinha e comia seu desjejum. Quando faltavam 15 minutos para as seis horas, saía da casa da família, no lado leste do terreno do castelo, e entrava no castelo propriamente dito pela Porta de Serviço Oeste.
Às seis, pontualmente, chegava aos aposentos de Pedro, entrava em silêncio e atacava as primeiras tarefas do dia — acender o fogo, fritar meia dúzia de bolinhos, esquentar água para o chá. Em seguida, percorria as três peças, para fazer a arrumação. Em geral, isso era fácil, porque Pedro era um menino organizado. Para terminar, voltava à sala de estudo e servia o desjejum, pois era naquele recinto que Pedro gostava de fazer as refeições quando as fazia sozinho — habitualmente na mesa ao lado das janelas que davam para o leste, com um livro de história aberto à sua frente.
Denis não gostava de acordar cedo, mas fazia com grande prazer o seu trabalho, e gostava de Pedro, que sempre era paciente com ele, mesmo se ele cometia enganos. A única vez que levantou a voz para Denis foi quando ele lhe trouxe um lanche e esqueceu de pôr um guardanapo na bandeja.
— Perdoe-me, Alteza — dissera Denis nessa ocasião. — É que eu nunca pensei...
— Pois da próxima vez, pense! — disse Pedro.
Não gritou propriamente, mas chegou bem perto disso. Denis nunca mais esqueceu de botar na bandeja de Pedro um guardanapo — e às vezes, por via das dúvidas, botava dois.
Cumpridos os deveres da manhã, Denis recolhia-se ao segundo plano e o pai assumia. Brandon era dos pés à cabeça o mordomo perfeito, com o nó da gravata primorosamente atado, o cabelo bem esticado para trás e preso num coque sobre a nuca, o casaco e as calças imaculados, os sapatos brilhando como espelhos (pelo brilho de espelho era Denis o responsável). Mas à noite, descalço, com o casaco pendurado no cabide, a gravata frouxa e um copo de gim na mão, o pai parecia a Denis um homem bem mais natural.
— Vou lhe dizer uma coisa, filho, que você deve sempre lembrar — disse ele mais de uma vez quando estava à vontade. — Pode ser que exista neste mundo uma dúzia de coisas que duram, mas com certeza não mais e provavelmente menos. A paixão de uma mulher não dura, e o vento de uma corrida não dura, como não dura a presunção do vaidoso, nem o feno no inverno, ou a doçura que chega com a primavera. Mas duas coisas que duram são: uma, a realeza, e outra, o serviço. Se você se mantiver junto do seu moço até que ele fique velho, e se cuidar bem dele, ele cuidará bem de você. Você o serve e ele serve você, se seguir o meu modo de pensar. Agora, encha meu copo e tome um trago, se quiser, mas não mais que um trago, ou a sua mãe esfola-nos vivos aos dois.
Sem dúvida, muitos filhos cedo se aborreciam desse catecismo, mas não Denis. Ele era o mais raro dos filhos, um jovem que aos 20 anos ainda achava que o pai sabia mais que ele.
Na manhã seguinte à morte do rei, Denis não teve de forçar-se a sair sonolento da cama, às cinco horas: foi acordado às três pelo pai, com a notícia de que o rei havia morrido.
— Flagg recrutou um grupo de busca — disse o pai, com os olhos injetados e cheios de pesar — e fez bem. Mas meu amo, eu garanto, logo estará à frente dele, e eu vou ajudá-lo a caçar o demônio que fez isso, se ele me quiser.
— Eu também! — exclamou Denis, apanhando as calças.
— Nada disso, nada disso — afirmou o pai com uma severidade que logo acabou com o entusiasmo de Denis. — As coisas têm de andar aqui como sempre andaram, com crime ou não; a rotina, mais do que nunca, tem de ser mantida. Meu amo e seu amo será coroado ao meio-dia, e isso é bom, embora ele suba ao trono numa época desfavorável. Mas a morte de um rei pela violência é sempre um acontecimento funesto quando não se dá no campo de batalha. As velhas regras prevalecerão, não duvide, mas nesse meio tempo pode haver dificuldades. O melhor que você, Denis, tem para fazer é cuidar dos seus deveres exatamente como sempre.
Saiu antes que Denis pudesse protestar.
Às cinco horas, Denis contou à mãe o que o pai dissera e informou-lhe que iria cuidar de seus afazeres matinais, mesmo sabendo que Pedro estaria ausente. A mãe de Denis concordou com entusiasmo. Morria por saber das novidades. Disse-lhe que fosse, claro... e voltasse o mais tardar às oito horas, e lhe contasse tudo o que tivesse ouvido.
Assim, Denis foi aos aposentos de Pedro, que estavam completamente desertos. Mesmo assim, observou os procedimentos de sempre, acabando de servir o desjejum na sala de estudo. Contemplou com pesar os pratos e os copos, as frutas e as geléias, refletindo que decerto nada daquilo seria aproveitado naquele dia. Mesmo assim, cumprir a seqüência costumeira fê-lo sentir-se melhor pela primeira vez desde que o pai o arrancara da cama, porque compreendia agora que, para o bem ou para o mal, nada seria como antes. Os tempos tinham mudado.
Preparava-se para sair quando ouviu um rumor. Tão abafado que não pôde localizá-lo com exatidão — somente o lugar aproximado de onde vinha. Olhou para a estante de livros de Pedro e o coração saltou-lhe no peito.
Ondas de fumaça saíam pelas frestas entre os livros frouxamente enfileirados.
Denis cruzou o quarto de um salto e pôs-se a remover os livros às braçadas. Viu que a fumaça saía de uma das fendas de um lado do fundo da estante. Com os livros removidos, o rumor tornava-se mais audível. Era de algum animal que guinchava em dolorosa aflição.
Freneticamente, Denis arranhou e estapeou o fundo da estante, o susto transformando-se em pânico. Se havia algo que apavorava as pessoas naquele tempo e lugar, era o fogo.
Não levou muito tempo para que seus dedos encontrassem com a mola secreta. Também isso fora previsto por Flagg; afinal, o painel secreto não era assim tão secreto — o bastante para divertir um menino, mas não muito mais. O fundo da estante deslizou para a direita um pouco, e uma baforada de fumaça cinzenta golfou da abertura. Junto com a fumaça, veio um cheiro nauseante — uma mistura de carne torrada, pêlos chamuscados e papel queimado.
Sem pensar em nada, Denis escancarou o painel. Claro, quando ele fez isso entrou mais ar. Das coisas que até aquele momento estavam num processo de combustão lenta começaram a brotar pequenas chamas.
Este era um ponto crucial, o único passo em que Flagg tivera de se contentar não com a certeza de que iria acontecer, mas com a previsão de que provavelmente iria acontecer. Todos os seus esforços dos últimos 75 anos balançavam agora no frágil fulcro do que o filho do mordomo faria ou deixaria de fazer nos próximos cinco segundos. Mas os Brandon vinham sendo mordomos desde tempos imemoriais, e Flagg concluíra que tinha de depender de sua longa tradição de conduta inatacável.
Se Denis tivesse ficado petrificado de horror à vista daquelas chamas nascentes, ou se tivesse voltado e corrido a buscar um jarro de água, todos os indícios incriminadores minuciosamente forjados por Flagg se teriam consumido numa labareda esverdeada. A morte do pai de Pedro jamais lhe seria imputada, e ao meio-dia ele seria coroado.
Mas o cálculo de Flagg estava correto. Em vez de ficar paralisado ou procurar água, Denis estendeu os braços e abafou as chamas com as mãos nuas. Demorou menos de cinco segundos, e só chamuscou-se um pouco. Os gritos de dor continuaram, e a primeira coisa que ele viu quando abanou a fumaça foi um camundongo, e Denis já matara dúzias deles por dever de ofício, sem nenhuma pena. No entanto, apiedou-se do bichinho. Algo terrível, algo que ele não podia nem de longe compreender lhe acontecera e ainda estava acontecendo. Do seu pêlo emanavam filetes de fumaça. Ao tocá-lo, recolheu a mão com um chiado — foi como tocar o minúsculo fogão da casa de boneca de Sacha.
Mais fumaça escapava devagar de um pequeno cofre de madeira lavrada com a tampa entreaberta. Denis ergueu um pouco a tampa. Viu a pinça e o pacote. Algumas manchas pardas tinham-se formado no pacote e ele aos poucos se crestava, mas não se inflamara... nem se inflamava agora. As chamas provinham das cartas de Pedro, as quais, naturalmente, não tinham sido enfeitiçadas. Fora o camundongo que as tinha incendiado com seu corpo pelando. Agora restava o pacote, que apenas fumegava, e algo advertiu Denis para que não o tocasse.
Ele estava com medo. Havia coisas que não compreendia, coisas que não estava certo de querer compreender. Sua única certeza era que tinha urgência de falar com o pai.
Denis pegou o balde de cinzas e uma pazinha do lado da estufa e voltou ao compartimento secreto. Usou a pazinha para recolher o corpo fumegante do ratinho e deixá-lo cair no balde. Por garantia, molhou mais uma vez os restos carbonizados das cartas. A seguir correu o painel, recolocou os livros na estante e saiu dos aposentos de Pedro. Levou com ele o balde de cinzas, e agora não se sentia como o servidor fiel de Pedro, mas como um ladrão — sua presa era um pobre camundongo, que morreu antes mesmo de Denis deixar o castelo pela Porta Oeste.
E antes mesmo de chegar a casa, junto à muralha do castelo, uma horrível suspeita varou-lhe a mente — foi ele o primeiro em Delain que teve essa suspeita e não seria o último.
Tentou expulsar o pensamento da cabeça, mas ele insistia em voltar. Que espécie de veneno, Denis conjeturava, teria matado Rolando, afinal? Exatamente que espécie de veneno? Chegando à morada dos Brandon, sentiu-se indisposto e negou-se a responder às perguntas da mãe. Também não lhe mostrou o que havia no balde de cinzas. Disse-lhe apenas que tinha de falar com o pai tão logo ele chegasse — era da máxima importância. Fechou-se no quarto e ficou a ruminar sobre o veneno. Só sabia uma coisa a respeito dele, e isso bastava. Era algo que queimava.
BRANDON CHEGOU POUCO antes das dez horas, exausto e irritado, sem disposição para conversas fiadas. Estava sujo e suado, tinha um arranhão na testa e teias de aranha pendiam-lhe dos cabelos em longos fiapos. Não haviam encontrado nenhum sinal do assassino. As únicas novas que trazia eram os preparativos para a coroação de Pedro que se realizavam com toda a pressa na Praça do Obelisco, sob a direção de Anders Peyna, o magistrado-geral de Delain.
A mulher falou-lhe da volta de Denis. Brandon franziu o cenho. Foi até a porta do quarto do filho e bateu, não com os nós dos dedos, mas com o punho fechado.
— Saia daí, menino, e venha nos explicar por que trouxe um balde de cinzas do aposento do seu amo.
— Não — disse Denis. — Entre você aqui, pai; não quero que a mãe veja o que eu trouxe, e não quero que ela ouça o que temos de conversar.
Brandon entrou sem pedir licença. A mãe de Denis esperou apreensiva junto ao fogão, achando que o menino devia ter inventado alguma bobagem, fruto talvez de uma histeria, alguma impensada travessura, e que logo ouviria as lamentações de Denis, quando Brandon, cansado e aborrecido, e que ao meio-dia passaria a ser o mordomo não de um príncipe mas, sim, de um rei, descarregasse toda a sua frustração e receio nos fundilhos do filho. Ela não censurava Denis: desde o amanhecer, o castelo inteiro parecia histérico, com todo mundo correndo de um lado para outro feito doidos saindo de um hospício, repetindo uma centena de boatos que eram logo desmentidos para surgirem outros novos.
Mas não houve levantar de vozes atrás da porta de Denis, e por mais de uma hora nem um nem outro saíram. Quando afinal deixaram o quarto, um único olhar à cara lívida do marido fez com que a pobre mulher por pouco não desmaiasse. Denis seguia nos calcanhares do pai como um cachorrinho assustado.
— Para onde vão? — perguntou ela timidamente.
Brandon não respondeu. Quanto a Denis, parecia incapaz de dizer uma palavra, limitou-se a revirar os olhos para ela e seguiu atrás do pai porta afora. Por 24 horas ela não viu nenhum dos dois e acabou por convencer-se de que estariam mortos — ou, pior ainda, padecendo na prisão da Inquisição debaixo do castelo.
Na verdade, essas trágicas suposições não eram tão improváveis, pois aquelas 24 horas foram horas terríveis em Delain. O dia não pareceria tão terrível em outros lugares, lugares onde revoltas, levantes, alarmes e execuções noturnas eram quase um modo de vida... e é fato que existem lugares assim, ainda que eu preferisse não ter de dizê-lo. Mas durante anos — ou séculos até — Delain fora um lugar ordeiro e organizado, e talvez por isso estivessem mal-acostumados. O dia negro começou propriamente quando ao meio-dia Pedro não foi coroado, e culminou com a notícia espantosa de que ele seria julgado na Sala do Obelisco pelo assassinato de seu pai. Se em Delain existisse uma bolsa de valores, imagino que ela teria despencado.
A construção do tablado onde teria lugar a coroação começou à primeira luz da manhã. A plataforma seria uma armação improvisada de tábuas comuns, Anders Peyna sabia, mas também sabia que uma profusão de flores e bandeiras encobriria as falhas do acabamento. Não houvera advertência antecipada da morte do rei, já que assassinato não é algo que se possa prever. Se fosse possível, não haveria assassinatos, e o mundo seria decerto um lugar bem mais feliz. Além do mais, pompa e circunstância não eram o que interessava — o importante era fazer com que o povo sentisse a continuidade do trono. Se os cidadãos tivessem a impressão de que tudo permanecia em ordem, a despeito do terrível acontecimento, não importaria a Peyna quantas floristas metessem farpas nos dedos.
Mas, às 11 horas, a construção foi bruscamente interrompida. As floristas foram mandadas embora — muitas delas em prantos — pelos guardas reais.
Às sete horas da manhã, a maioria dos soldados da guarda palaciana tinha começado a envergar os seus vistosos uniformes de gala vermelhos e altos barretes cinzentos de queixada de lobo. Naturalmente, deveriam formar a dupla ala cerimonial, uma passagem que Pedro iria percorrer antes de ser coroado. Às 11 horas, receberam novas ordens; ordens estranhas e desconcertantes. Com grande açodamento, os uniformes de gala foram relegados, e os uniformes pardos de combate tomaram seu lugar. As vistosas mas desajeitadas espadas cerimoniais foram substituídas pelos mortíferos sabres, que eram o equipamento de todos os dias; e os barretes de queixada de lobo, imponentes, mas pouco práticos, descartados em favor dos elmos de couro achatados do uniforme de batalha.
Uniforme de batalha — o próprio nome dá aflição. Existirá, por exemplo, traje normal de batalha? Acho que não. Mas o fato é que havia soldados em uniforme de batalha por todos os lados, com expressões duras e carrancudas.
O príncipe Pedro suicidou-se! Este era o boato mais comum que circulava entre a gente do castelo.
O príncipe Pedro foi assassinado! Este vinha em segundo lugar, por pouca diferença.
Rolando não está morto; foi um diagnóstico errado, o médico foi decapitado, mas o velho rei está louco e ninguém sabe o que fazer. Era um terceiro.
Houve muitos outros, e alguns ainda mais disparatados.
Quando a noite desceu sobre a confusão e o pesar da cidade, ninguém dormiu. Na Praça do Obelisco, todas as tochas estavam acesas, o castelo resplandecia de luzes, e todas as casas dentro dos muros e nas encostas abaixo exibiam velas e lanternas, enquanto pessoas assustadas se agrupavam para conversar sobre os fatos do dia. Todos eram unânimes em concordar que algo muito grave estava em marcha.
A noite foi ainda mais longa do que o dia. A sra. Brandon vigiava, à espera dos seus homens em terrível solidão. Ficou sentada à janela, mas, pela primeira vez na vida, o falatório que saturava o ar ia além do que ela queria ouvir. Mas, mesmo assim, podia parar de escutar? Não podia.
A madrugada se arrastava interminavelmente rumo a uma alvorada que parecia nunca chegar, quando um novo zunzum começou a suplantar todos os anteriores — era incrível, um absurdo e, no entanto, era dito com mais e mais certeza, até que os próprios guardas em seus postos o estavam repetindo uns aos outros em voz baixa. O novo boato apavorou a sra. Brandon mais do que ninguém, pois ela se lembrava — bem demais! — de como estava lívido o rosto do pobre Denis quando ele chegara a casa com o balde de cinzas do príncipe. Dentro havia algo que queimava e cheirava mal, uma coisa que ele se recusara a mostrar-lhe.
O príncipe Pedro foi preso pelo assassinato do pai, dizia o medonho rumor. Foi preso... o príncipe Pedro foi preso... o príncipe matou o próprio pai!
Pouco antes da aurora, aturdida, a mulher deitou a cabeça nos braços e chorou. Depois de algum tempo, seus soluços abrandaram e ela caiu num sono agitado.
— AGORA ME DIGA o que há nesse balde, e depressa! Nada de bobagens, Denis, está me ouvindo? — foram as primeiras palavras de Brandon ao entrar no quarto de Denis e fechar a porta atrás de si.
— Já lhe mostro, pai — disse Denis —, mas primeiro responda a uma pergunta: de que espécie era o veneno que matou o rei?
— Ninguém sabe.
— Como ele agiu?
— Mostre-me o que há nesse balde, menino. Já. — Brandon cerrou um grande punho. Não o sacudiu; apenas o levantou. Era o bastante. — Mostre-me ou arranco você do caminho.
Brandon olhou o camundongo morto longamente, sem falar. Denis observava, amedrontado, vendo o rosto do pai empalidecer, ficar mais grave, mais sombrio. Os olhos do camundongo tinham queimado até reduzir-se a nada além de cinzas. O pêlo pardo estava crespo e enegrecido. Dos minúsculos ouvidos ainda saía fumaça, e os dentes, visíveis no esgar da morte, estavam negros de fuligem, como os de uma grelha de fogão.
Brandon fez menção de tocá-lo, depois recolheu a mão. Levantou os olhos para o filho e perguntou num cochicho rouco:
— Onde achou isto?
Denis começou a gaguejar frases sem nexo.
Brandon escutou por um momento, depois segurou o filho com força pelos ombros.
— Respire fundo e ponha suas idéias em ordem, meu filho — disse. — Estou do seu lado nisso, como em tudo o mais, você sabe. Fez bem em esconder da sua mãe o coitadinho. Agora diga-me como o achou e onde.
Denis, aliviado e mais calmo, conseguiu contar a história ao pai. A narrativa dele foi um pouco mais curta que a minha, mas mesmo assim levou vários minutos. O pai, sentado numa cadeira, tinha o nó de um dedo fincado na testa, a mão sombreando os olhos; não fez perguntas, nem mesmo resmungou.
Quando Denis terminou, o pai murmurou quatro palavras em surdina. Apenas quatro palavras, mas elas fizeram o coração do rapaz contrair-se num bolo azul gelado, ou pelo menos foi como ele o sentiu naquele instante.
— Exatamente como o rei.
Os lábios de Brandon tremiam de terror, mas pareceu que ele tentava sorrir.
— Será que aquele animal era um Rei dos Camundongos, filho?
— Pai... papai... eu... eu...
— Havia um cofre, você disse?
— É.
— E um pacote.
— É.
— E o pacote estava chamuscado, mas não queimado.
— É.
— E uma pinça.
— É como a que mamãe usa para arrancar os pêlos do nariz...
— Espere — disse Brandon, e tornou a fincar o dedo na testa. — Deixe-me pensar. Cinco minutos se passaram. Brandon continuava sentado, imóvel, quase como se tivesse adormecido, mas Denis sabia que não. Brandon não sabia que a mãe de Pedro lhe dera o cofre entalhado, nem que Pedro o perdera quando era pequeno; as duas coisas tinham acontecido antes que Pedro entrasse na adolescência e Brandon fosse posto a seu serviço. Do painel secreto ele sabia: dera com ele por acaso logo no primeiro ano em que servira Pedro (e por sinal bem antes de completar o ano). Acho que já disse, não era na verdade um compartimento assim tão secreto, como costumava ser o caso — apenas o bastante para contentar um menino aberto como Pedro. Brandon sabia dele, mas nunca olhara dentro dele depois da primeira vez, quando então ele não continha nada além de superestimadas bugigangas que qualquer menino considera os seus tesouros — um baralho de tarô faltando algumas cartas, um saquinho de bolas de gude, uma moeda da sorte, uma mecha entrançada de pêlos da crina de Peônia. Se há algo de que um bom mordomo entende é a virtude a que chamamos discrição, que vem a ser o respeito pelos limites da vida alheia. Nunca mais ele voltara a olhar dentro do compartimento. Teria sido o mesmo que furtar. Enfim, Denis perguntou:
— Devemos ir até lá, pai, para você ver o cofre?
— Não. Temos de ir ao magistrado-geral com este camundongo, e você irá contar-lhe a sua história exatamente como a contou a mim.
Denis sentou-se pesadamente na cama. Sentia-se como se tivesse levado um soco no estômago. Peyna, o homem que ditava penas de prisão e decapitações! Peyna, com sua cara branca e sinistra e sua grande testa de cera! Peyna, que, depois do rei, era a maior autoridade do reino!
— Não — sussurrou finalmente. — Pai, eu não posso... eu... eu...
— É preciso — disse o pai severamente. — É algo terrível, a coisa mais terrível de que já tive notícia, mas tem de ser encarada e resolvida. Você lhe dirá o que me disse e, aí, o caso estará nas mãos dele.
Denis fitou os olhos do pai e viu que Brandon não voltaria atrás. Caso se recusasse a ir, o pai o agarraria pela nuca e o arrastaria até Peyna como a um gatinho, sem dar importância aos seus 20 anos de idade.
— Está bem, pai — disse chorosamente, imaginando que quando os olhos frios e vigilantes de Peyna pousassem sobre ele, ele simplesmente cairia morto de uma síncope cardíaca. Depois (com pânico crescente) lembrou-se de que tirara o balde de cinzas dos aposentos do príncipe. Se não morresse de medo no momento em que Peyna o mandasse falar, com certeza passaria o resto de sua vida no calabouço mais fundo do castelo, por furto.
— Fique calmo, filho, tanto quanto puder, pelo menos. Peyna é um homem duro, mas justo. Nada fez você de que se deva culpar. Conte-lhe simplesmente o que me contou.
— Está bem — murmurou Denis. — Vamos agora? Brandon saiu da cadeira e caiu de joelhos.
— Antes vamos rezar. Ajoelhe-se comigo, filho. Denis obedeceu.
PEDRO FOI JULGADO, condenado e sentenciado à prisão perpétua nas duas celas geladas do lado do Obelisco. Tudo isso foi feito em apenas três dias. Não levará muito tempo contar-lhes como foram implacáveis as garras da armadilha de Flagg que se fecharam em torno do rapaz.
Peyna não ordenou de imediato a suspensão dos preparativos da coroação — na verdade, julgou que Denis devia estar enganado, que devia haver uma explicação razoável para tudo aquilo. Fosse como fosse, o estado do camundongo, tão semelhante ao do rei, não podia ser ignorado, e a família Brandon tinha no reino uma longa e acatada tradição de honestidade e sensatez. Isso era importante, mas havia algo de importância muitíssimo maior: quando Pedro fosse coroado, não deveria haver a menor mácula em sua reputação.
Peyna escutou tudo que Denis tinha a dizer e depois convocou Pedro. É bem possível que Denis morresse realmente de pavor ao ver o amo. Misericordiosamente, foi-lhe permitido passar para outra sala com o pai. Peyna informou a Pedro gravemente a existência de uma acusação dirigida contra ele... uma acusação de ter tido ele, Pedro, participação no assassinato de Rolando. Anders Peyna não era homem de medir palavras, por mais que pudessem ferir.
Pedro levou um choque. Convém lembrar que ele ainda se esforçava em aceitar a idéia de que o seu amado pai estava morto, morto por um veneno cruel que o queimara vivo de dentro para fora. Cabe lembrar que ele comandara a busca a noite inteira, não dormira e estava fisicamente exausto. Cumpre lembrar, acima de tudo, que, mesmo alto e robusto como um homem feito, ele só tinha 16 anos. Aquela notícia espantosa, depois de todo o resto, levou-o a uma reação muito natural, mas que ele deveria evitar a todo custo sob os olhos frios e avaliadores de Peyna: começou a chorar.
Se Pedro tivesse negado veementemente a acusação, ou se tivesse expressado o seu choque, o seu cansaço e a sua dor, rindo desvairadamente daquela idéia absurda, tudo podia ter acabado ali mesmo. Aposto como essa possibilidade nunca passou pela cabeça de Flagg: uma das poucas fraquezas de Flagg era a tendência de julgar os outros de acordo com o que tinha no próprio tenebroso e infame coração. Flagg olhava a todos com suspeita e achava que todos tinham motivos ocultos para tudo que faziam.
Tinha uma mente muito complexa, como uma sala de espelhos com tudo refletido em dobro em diferentes tamanhos.
A trilha dos pensamentos de Peyna não era sinuosa, era sobremodo reta. Era-lhe extremamente difícil — quase impossível — acreditar que Pedro houvesse envenenado o pai. Se Pedro se tivesse indignado ou rido às gargalhadas, provavelmente tudo teria acabado sem sequer uma diligência para investigar o suposto cofre com seu nome gravado, e a pinça e o pacote que ele continha. As lágrimas, porém, causaram má impressão. Lágrimas davam idéia de uma manifestação de culpa vinda de um menino com idade suficiente para cometer assassinato, mas não para disfarçar o que fizera.
Peyna decidiu que tinha de prosseguir as investigações, mas a contragosto, porque a decisão envolveria guardas, o que podia suscitar comentários, algum cochicho, sobre aquelas suspeitas momentâneas, cujo vazamento mancharia as primeiras semanas do reinado de Pedro.
Em seguida, refletiu que talvez isso pudesse ser evitado. Poderia usar meia dúzia de guardas reais, não mais. Poderia deixar quatro postados do lado de fora da porta. Depois de encerrado esse processo ridículo, todos eles seriam despachados para o rincão mais longínquo do reino. Brandon e o filho também teriam de ser afastados, pensou Peyna, o que era uma pena, mas as línguas tendem a soltar-se na boca, principalmente quando afrouxadas pelo álcool, e o gosto do velho pelo gim era notório.
Assim, Peyna ordenou que os trabalhos no palanque da coroação fossem suspensos temporariamente. Acreditava que em menos de meia hora poderiam ser recomeçados, com os operários suando, praguejando e se esfalfando para recuperar o tempo perdido.
Ai!...
O COFRE, O PACOTE e a pinça lá estavam, como vocês sabem. Pedro tinha jurado pela mãe que não tinha nenhum cofre lavrado: agora a sua calorosa negativa parecia muito tola. Com a pinça, Peyna levantou cuidadosamente o pacote chamuscado, examinou-lhe o interior e viu três partículas de areia verde. Eram tão pequenas que quase não se viam, mas Peyna, atento ao que acontecera tanto ao grande rei como ao humilde camundongo, pôs o pacote de volta no cofre e fechou a tampa. Ordenou a dois dos guardas reais postados no corredor que entrassem, relutando em admitir a crescente gravidade do caso.
O cofre foi cuidadosamente colocado sobre a escrivaninha de Pedro, com tênues filetes de fumaça ainda escapando pelas frestas. Um dos guardas teve ordem de ir chamar o homem que mais do que ninguém em Delain entendia de venenos.
O homem, é claro, era Flagg.
— EU NÃO TIVE NADA a ver com isso, Anders — disse Pedro. Tinha-se recobrado, mas ainda tinha o rosto pálido e desfeito, e olheiras arroxeadas como o magistrado nunca vira.
— Mas o cofre é seu, não é?
— É.
— Por que negou que tinha um cofre como este?
— Tinha-me esquecido. Deve fazer 11 anos ou mais que não via esse cofre. Foi minha mãe que me deu.
— O que foi feito dele?
Ele já não me trata por Vossa Graça ou Vossa Alteza, pensou Pedro com um calafrio. Não está usando nenhum tratamento de respeito. Será que tudo isso está mesmo acontecendo? Meu pai envenenado? Tomás gravemente doente? Peyna aqui só faltando me acusar de assassinato? E o meu cofre... de onde, em nome dos deuses, surgiu, e quem o meteu no compartimento secreto atrás dos livros?
— Eu o perdi — disse Pedro devagar. — Anders, você não acredita realmente que eu tenha matado meu pai, acredita?
Eu não acreditava... mas agora não sei, pensou Peyna.
— Eu o amava muito — disse Pedro.
Foi sempre o que pensei... mas agora não sei quanto a isso tampouco, pensou Anders Peyna.
FLAGG ENTROU MUITO agitado e, sem nem olhar para o lado de Peyna, pôs-se imediatamente a bombardear o aturdido, amedrontado e indignado príncipe com perguntas a respeito da busca. Tinha achado algum vestígio do veneno ou do envenenador? Descoberto algum sinal de conspiração? Quanto a ele, era de opinião que teria sido um indivíduo agindo sozinho, com toda a probabilidade um louco. Passara a manhã inteira diante do cristal, disse Flagg, mas o cristal teimara em conservar-se escuro. Mas não importava, podia fazer melhor que sacudir ossos e sondar cristais. Era preciso ação, não sortilégios. Tudo que o príncipe lhe ordenasse, qualquer recanto escuro a ser esquadrinhado...
— Não o chamamos para ouvi-lo falar como o seu papagaio, com duas cabeças conversando ao mesmo tempo — disse Peyna friamente.
Não gostava de Flagg. No que lhe dizia respeito, no momento da morte de Rolando, o bruxo fora rebaixado à posição de joão-ninguém da corte. Talvez pudesse dizer-lhes o que eram aquelas malignas partículas verdes do pacote, mas essa era a extensão de sua serventia.
Pedro não vai dar trela a esse fuinha depois de coroado, pensou Peyna. Mas não foi além, e seus pensamentos se confundiram em consternação, porque as chances de Pedro ser coroado pareciam cada vez mais reduzidas.
— Não — disse Flagg. — Suponho que não. — Olhou para Pedro e perguntou: — Por que fui convocado, meu rei?
— Não se dirija a ele assim! — explodiu Peyna, malgrado estar profundamente abalado. Flagg viu o abalo na fisionomia de Peyna, e embora fingisse um ar surpreso, entendeu perfeitamente o que significava e ficou satisfeito. Um verme de suspeita se insinuava no gélido coração do magistrado-geral. Bom.
Pedro desviou dos dois o rosto pálido e ficou a olhar para a cidade, mais uma vez lutando para dominar as emoções. Tinha os dedos fortemente entrelaçados. Os nós dos dedos estavam brancos. Naquele momento aparentava muito mais de 16 anos.
— Vê esse cofre sobre a mesa? — perguntou Peyna.
— Sim, Excelência — disse Flagg em seu tom mais rígido e formal.
— Dentro há um pacote que aos poucos parece carbonizar-se. Dentro do pacote, há algo parecido com grãos de areia. Gostaria que o senhor os examinasse e visse se pode dizer-me o que são. Recomendo-lhe energicamente que não os toque. Acredito que a substância presente no pacote pode ter sido a causa da morte do rei Rolando.
Flagg permitiu-se demonstrar preocupação. Na verdade, estava radiante. Desempenhar um papel sempre o fazia sentir-se assim. Gostava de representar.
Apanhou o pacote, usando a pinça. Examinou o interior. Estreitou os olhos.
— Preciso de um pedaço de obsidiana — afirmou. — Imediatamente.
— Eu tenho um em minha escrivaninha — disse Pedro, desanimado, e apanhou-o. Não era tão grande quanto o que Flagg usara e depois jogara fora, mas era bastante grosso. Estendeu-o a um dos guardas, que o passou a Flagg. O bruxo levantou-o contra a luz, franzindo um pouco a testa... mas dentro de seu peito um homenzinho vibrava, dava cambalhotas e saltos mortais. A obsidiana era bem parecida com a dele, mas de um lado estava quebrada e dentada. Ah!, os deuses lhe sorriam! Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
— Eu a deixei cair há um ano ou dois — disse Pedro, notando o interesse de Flagg. Não se deu conta, como tampouco Peyna, pelo menos naquele momento, que juntara mais tijolos ao muro que se levantava em torno de si. — A metade que está na sua mão caiu no meu tapete, que amorteceu o choque. A outra metade bateu nas lajes e se espatifou em cinqüenta pedaços. A obsidiana é dura, mas muito quebradiça.
— Verdade, Alteza? — disse Flagg gravemente. — Eu nunca tinha visto uma pedra destas, se bem que naturalmente tivesse ouvido falar nela.
Pousou a obsidiana sobre a escrivaninha de Pedro, entornou o pacote sobre ele e fez cair os três grãos de areia. Filetes de fumaça começaram logo a subir da obsidiana. Todos os presentes viram que cada grão ia afundando devagar na cratera que se abria na pedra mais dura que se conhecia no mundo. Os guardas, vendo aquilo, murmuraram inquietos.
— Silêncio! — trovejou Peyna, voltando-se para eles.
Os guardas recuaram, assustados e lívidos de terror. Mais e mais se convenciam de que aquilo era feitiçaria.
— Creio que sei o que são esses grãos, e como verificar — disse Flagg, vociferando as palavras. — Mas se eu estiver certo, o teste tem de ser feito o mais depressa possível.
— Por quê? — perguntou Peyna.
— Creio que são grãos de areia-de-dragão — disse Flagg. — Uma vez tive comigo uma pequena quantidade, mas infelizmente ela desapareceu antes que eu pudesse estudá-la bem. É bem possível que tenha sido roubada.
Flagg não deixou de notar a olhadela que Peyna atirou a Pedro ao ouvir isso.
— Desde então, às vezes isso me preocupa — continuou —, porque dizem que é uma substância das mais mortíferas que existem sobre a Terra. Não tive ocasião de analisar-lhe as propriedades e por isso duvidava, mas vejo que o que ouvi acaba em grande parte de ser demonstrado.
Flagg apontou para a obsidiana. As depressões em que os três grãos de areia verde repousavam tinham alcançado agora uma profundidade de quase três centímetros — de cada uma delas subia fumaça como que de uma pequena fogueira. Flagg calculou que cada grão havia corroído metade da espessura da pedra.
— Essas três partículas de areia estão perfurando rapidamente um bloco da rocha mais dura que se conhece — disse. — A areia-de-dragão tem fama de ser tão corrosiva que ataca qualquer sólido... qualquer sólido, sem exceção. E produz um tremendo calor. Ei, você! Guarda!
Flagg apontou para um dos guardas reais. O guarda se adiantou, não parecendo feliz por ter sido escolhido.
— Toque o lado dessa pedra — ordenou Flagg e, quando o guarda estendeu a mão hesitante para tocar o peso de papéis, acrescentou vivamente: — Só no lado! Não aproxime a mão desses buracos!
O guarda tocou o peso de papéis e recolheu a mão nervosamente. Meteu os dedos na boca, mas não antes que Peyna avistasse as bolhas crescendo neles.
— A obsidiana conduz o calor muito lentamente, ao que sei — disse Flagg —, mas essa peça está quente como uma chapa de fogão... tudo por causa de três grãos de areia que caberiam com folga na unha do dedo mindinho! Toque a escrivaninha do príncipe, Excelência!
Peyna assim fez. Afligiu-se e assombrou-se ao sentir o calor na mão. Em pouco, certamente, a grossa madeira começaria a empolar e a crestar-se.
— Por isso temos de agir depressa — disse Flagg. — Logo a mesa vai pegar fogo. Se respirarmos os vapores... sempre supondo que sejam verdadeiras as histórias que ouvi... todos nós morreremos dentro de alguns dias. Mas, para tirarmos a dúvida, mais uma experiência...
Ouvindo isto, os guardas mostraram-se ainda mais inquietos.
— Muito bem — disse Peyna. — Qual é a experiência? Rápido, criatura!
Detestava Flagg, agora mais do que nunca, e se algum dia achara que não convinha subestimá-lo, essa impressão agora redobrava. Cinco minutos antes, estivera disposto a preterir o homem como o joão-ninguém da corte. Agora, parecia que suas vidas — e as razões de Peyna contra Pedro — dependiam dele.
— Pretendo encher um balde de água — disse Flagg, falando mais depressa do que nunca.
Seus olhos escuros faiscavam. Os guardas e Peyna olhavam fixamente os pequenos orifícios negros na obsidiana e as delgadas fitas de vapor com a diabólica fascinação de aves hipnotizadas por uma ninhada de serpentes coleantes. Até onde tinham penetrado na obsidiana? Quanto faltava para atingirem a madeira? Impossível dizer. Até Pedro olhava, embora a mistura de cansaço, de tristeza e confusão não lhe tivesse abandonado o rosto.
— Água da bomba do príncipe! — gritou Flagg para um dos guardas. — Que seja num balde ou numa panela, ou caçarola funda. Rápido! Rápido!
O guarda olhou para Peyna.
— Vá — disse Peyna, procurando não parecer assustado. Mas estava assustado, e Flagg sabia disso.
O guarda saiu. Daí a instantes ouviram o som da água bombeada num balde que ele achara no armário do mordomo.
Flagg estava outra vez com a palavra.
— Pretendo mergulhar meu dedo no balde e deixar cair um pingo de água em um desses buracos — disse. — Vamos observar com atenção, Excelência. Trata-se de ver se a água que cai no buraco fica momentaneamente verde. É um sinal certo.
— E depois? — perguntou Peyna, tenso.
O guarda voltou. Flagg pegou o balde e pousou-o sobre a mesa.
— Depois pingarei gotas cuidadosamente nos outros dois buracos — disse Flagg. Falava com calma, mas suas faces normalmente brancas estavam afogueadas. — A água não detém a areia-de-dragão, dizem, mas a retarda.
Isso era tornar as coisas um pouco piores do que eram, mas Flagg queria amedrontá-los.
— Por que não despejar tudo de uma vez? — um dos guardas deixou escapar num impulso.
Peyna lançou ao impertinente um olhar assustador, mas Flagg respondeu à pergunta com tranqüilidade, enquanto mergulhava o dedo mínimo no balde.
— Quer que eu faça com que esses três grãos de areia sejam arrastados para fora dos buracos que cavaram na pedra e se espalhem na mesa do moço? — perguntou jovialmente. — Podíamos deixá-lo aqui para apagar o fogo quando a água secasse, meu rapaz!
O guarda não disse mais nada.
Flagg tirou o dedo gotejante de dentro do balde.
— A água já está morna — disse a Peyna —, só de estar sobre a mesa.
Com cuidado levou o dedo, de que pendia uma única gota de água, sobre um dos buracos.
— Atenção! — disse Flagg bruscamente, e nesse instante deu a Pedro a impressão de um vendedor ambulante em vias de executar um monstruoso número de ilusionismo. Mas Peyna curvou-se para a frente. Os guardas esticaram o pescoço. A gota pendia do dedo de Flagg, por um momento refletindo todo o quarto de Pedro atrás dela, numa perfeita miniatura curva. Balançou... alongou-se... e caiu no buraco.
Ouviu-se o chiado explosivo como de gordura caindo numa frigideira quente. Um minúsculo gêiser de vapor repuxou do buraco... mas antes disso, Peyna viu claramente uma cintilação verde como de um olho de gato. Nesse instante, a sorte de Pedro foi selada.
— Areia-de-dragão, pelos deuses! — Flagg sussurrou roucamente. — Por tudo o que é sagrado, não respirem esse vapor!
Anders Peyna tinha uma justa reputação de coragem, mas naquele momento sentiu medo. A ele aquela única centelha de luz verde afigurou-se de uma malignidade indescritível.
— Apague os outros dois — disse roucamente. — Já!
— Eu já lhe disse — Flagg falou tranqüilamente, molhando de novo o dedo e fitando a obsidiana. — É impossível apagá-los... Isto é, existe um modo, ao que se diz, mas só um. Vossa Excelência não haveria de gostar. Mas podemos retardá-los e nos livramos deles. Eu acho.
Cuidadosamente pingou uma gota em cada um dos outros dois buracos. De cada vez, houve um nefasto clarão verde e um repuxo de vapor.
— Por algum tempo estamos a salvo, creio — observou Flagg. Um dos guardas soltou um ruidoso suspiro de alívio. — Tragam-me luvas... ou panos dobrados... qualquer coisa com que eu possa pegar essa pedra. Está quente como o diabo, e essas gotas de água vão evaporar num átimo.
Dois abafadores tirados do armário do mordomo foram rapidamente trazidos. Flagg usou-os para pegar a obsidiana. Levantou-a, com cuidado para mantê-la nivelada, depois deixou-a cair no balde. Quando a obsidiana desceu ao fundo, todos viram claramente a água adquirir por um instante um leve tom esverdeado.
— Pronto — disse Flagg, efusivo —, tudo bem. Um desses guardas tem de levar esse balde para fora do castelo, até a grande bomba junto à Árvore Grande no centro do pátio. Lá chegando, encher uma grande bacia de água e colocar o balde na bacia. A bacia deve ser levada até o meio do lago Johanna e afundada. A areia-de-dragão poderá aquecer o lago daqui a 100 mil anos, mas os que estiverem por aqui nessa época, se é que estará alguém, que se preocupem com isso.
Peyna ficou calado um momento, mordendo o lábio numa indecisão pouco própria dele, até que finalmente ordenou:
— Você, você e você. Façam o que ele disse.
Tiraram o balde dali. Os guardas o carregaram como se transportassem uma bomba que não explodiu. Flagg divertia-se por dentro, pois tudo aquilo era em grande parte uma encenação de ilusionista, como Pedro momentaneamente tinha suspeitado. As gotas de água que ele pingara nos buracos não eram suficientes para deter a ação corrosiva da areia — pelo menos não por muito tempo —, mas ele sabia que a água do balde bastava para abafá-la por completo. Mesmo uma porção menor de líquido teria servido para mais areia... um copo de vinho, por exemplo. Mas eles que pensassem o que bem quisessem; no devido tempo, haveriam de voltar-se contra Pedro, e com fúria redobrada.
Depois que os guardas saíram, Peyna voltou-se para Flagg.
— O senhor disse que existe um meio de neutralizar o efeito da areia-de-dragão.
— Sim... Dizem as lendas que se ela for introduzida num ser vivo, esse ser vivo queimará até morrer... e quando consumada... a morte... o poder da areia-de-dragão também morre. Eu pretendia fazer a experiência, mas antes que tivesse a oportunidade a minha amostra desapareceu.
Peyna ficou olhando para ele, os lábios brancos.
— E em que espécie de ser vivo o senhor pretendia ensaiar essa coisa maldita, bruxo?
Flagg encarou Peyna com cândida inocência.
— Ora, Excelência, num camundongo, é claro.
AS TRÊS HORAS da tarde, realizou-se uma estranha reunião no Tribunal Real de Delain, na base do Obelisco — uma grande sala que, no correr dos anos, ficara conhecida simplesmente como o “Tribunal de Peyna”.
Reunião — não gosto da palavra. É por demais neutra e pequena para descrever a grave decisão a que se chegou naquela tarde. Não posso chamá-la de audiência ou julgamento, porque foi uma reunião importantíssima, como penso que vocês concordarão.
No salão cabiam 500 pessoas, mas naquela tarde ali só havia sete homens. Seis deles formavam um grupo compacto, como se estivessem nervosos pelo fato de serem tão poucos num recinto destinado a tantos. A um lado da parede circular de pedra, viam-se as armas do reino — um unicórnio ferindo com os chifres um dragão —, e a todo instante Pedro se surpreendia a dirigir para ali o seu olhar. Além dele, estavam ali Peyna, Flagg (era Flagg, naturalmente, o que estava sentado um pouco à parte dos demais) e quatro dos procuradores-mores do reino. Ao todo eram dez os procuradores-mores, mas os outros seis encontravam-se em várias partes distantes de Delain, lidando com processos. Peyna resolvera não esperar por eles. Sabia que tinha de agir rápida e decisivamente, ou o reino estaria ameaçado. Sabia disso e se sentia amargurado, pois precisaria da ajuda daquele jovem assassino frio para evitar derramamento de sangue.
Que Pedro fosse o assassino era algo de que Peyna intimamente tinha convicção. Não por causa do cofre, nem da areia verde, nem mesmo do rato calcinado. O que o convenceu foram as lágrimas de Pedro. Este, a bem da verdade, não aparentava agora nem culpa nem fraqueza. Estava pálido, mas calmo, outra vez plenamente senhor de si.
Peyna pigarreou. O som ecoou cavernosamente nas sinistras paredes de pedra do salão do tribunal. Pressionou os dedos contra a testa e não se espantou de ver neles um brilho de suor frio. Já ouvira testemunhos em centenas de processos importantes e solenes; já despachara mais homens do que podia lembrar para o machado do carrasco. Mas nunca imaginara que teria de reger uma “reunião” como aquela, ou o julgamento de um príncipe pelo assassinato do seu régio pai... e esse julgamento ocorreria inevitavelmente se tudo naquela tarde corresse como ele antevia. Havia razão, pensou ele, para estar suando, e razão para o suor ser frio.
Uma simples reunião. Nada de legal; nada de oficial; nada de regimental. Mas nenhum deles — nem Peyna, nem Flagg, nem os procuradores, nem o próprio Pedro — deixava-se enganar. Era o verdadeiro julgamento. A reunião, o poder estava ali. O camundongo queimado tinha dado origem a um grande curso de eventos. Ou esse curso seria desviado aqui, como um grande rio pode ser desviado perto da nascente quando ainda é um riacho, ou lhe seria dado prosseguir, ganhando força à medida que avançasse, até que nada na Terra fosse capaz de desviá-lo ou detê-lo.
Uma simples reunião, Anders Peyna pensou, e enxugou mais suor da testa.
FLAGG OBSERVAVA OS PROCEDIMENTOS de olho aceso. Como Peyna, ele sabia que tudo se decidiria ali e estava confiante.
Pedro tinha a cabeça erguida, o olhar firme. Um a um, enfrentava os olhares de cada membro daquele júri informal.
As paredes de pedra contemplavam, carrancudas, os sete homens. Os bancos reservados ao público estavam vazios, mas era como se Peyna sentisse o peso dos olhos dos fantasmas, olhos que exigiam justiça naquele caso terrível.
— Senhor — disse Peyna finalmente —, o sol o fez rei três horas atrás.
Pedro encarou Peyna com surpresa, mas calado.
— Sim — disse Peyna, como se Pedro tivesse falado. Os procuradores-mores balançavam as cabeças, com ares terrivelmente solenes. — Não houve coroação, mas uma coroação é apenas um ato público. Em que pese a sua solenidade, é espetáculo, não substância. Deus, a lei e o sol fazem um rei, não a coroação. Neste instante mesmo, você é rei, legalmente apto a ditar ordens a mim, a todos aqui, ao reino inteiro. Isso nos põe num terrível dilema. Compreende qual seja?
— Sim — respondeu Pedro gravemente. — Os senhores pensam que vosso rei é um assassino.
Peyna surpreendeu-se um pouco com a franqueza da resposta, mas não se sentiu de todo insatisfeito. Pedro sempre fora um menino despachado. Pena que aquele aparente desassombro tivesse ocultado tamanha profundeza de malícia, mas o importante era que aquela sinceridade, provavelmente resultado de uma tola bravata juvenil, apressaria as coisas.
— Senhor, o que pensamos não vem ao caso. A culpa ou a inocência é um tribunal que deve julgar: é o que sempre me foi ensinado e no que eu acredito de todo o coração. Só existe uma exceção. Os reis estão acima da lei. Compreende?
— Sim.
— Porém... — Peyna levantou um dedo. — Porém, o crime foi cometido antes de você ser rei. Tanto quanto sei, esta situação extraordinária nunca se apresentou diante de um tribunal em Delain. As possibilidades são terríveis. Anarquia, caos, guerra civil. Para evitarmos tudo isso, senhor, teremos de contar com a sua ajuda.
Pedro encarou-o gravemente.
— Ajudarei se puder — declarou.
E eu penso... assim seja... que concordará com o que estou para propor, pensou Peyna. Sentia que novamente o suor lhe brotava da testa, mas desta vez não o enxugou. Pedro era apenas um menino, mas um menino inteligente — poderia interpretá-lo como um sinal de fraqueza. Vai dizer que concorda pelo bem do reino, mas um menino que teve a coragem monstruosa e pervertida de matar o próprio pai é também, imagino, um menino incapaz de deixar de acreditar que escapará impune. Pensa que o ajudaremos a encobrir o crime, mas ah!, meu senhor, como se engana!
Flagg, que quase podia ler esses pensamentos, levou a mão à boca para esconder um sorriso. Peyna o odiava, mas Peyna, sem saber, tornara-se o seu auxiliar número um.
— Quero que você ponha de lado a coroa — disse Peyna. Pedro olhou para ele com grave surpresa.
— Renunciar ao trono? — perguntou. — Eu... não sei, senhor magistrado-geral. Terei de refletir a respeito antes de dizer sim ou não. Poderia ser um modo de prejudicar o reino na tentativa de ajudá-lo... como um médico pode matar um doente dando-lhe remédio em demasia.
O rapaz é ladino, pensaram Flagg e Peyna simultaneamente.
— Não me entendeu. Não é a renúncia ao trono que peço. Apenas que ponha de lado a coroa até que este assunto esteja resolvido. Se você for absolvido da morte do seu pai...
— Como serei — disse Pedro. — Se meu pai governasse até eu estar velho e desdentado, isso me deixaria perfeitamente feliz. Meu único desejo era servi-lo, ampará-lo e amá-lo em tudo o que fizesse.
— No entanto, seu pai está morto, e as circunstâncias o acusam. Pedro assentiu com a cabeça.
— Se for absolvido, você retomará a coroa. Se for julgado culpado...
Neste ponto, os procuradores-mores mostraram-se nervosos, mas Peyna não titubeou.
— Se for julgado culpado, será levado ao topo do Obelisco, onde passará o resto dos seus dias. Ninguém da família real pode ser executado: é uma lei de mil anos de idade.
— E Tomás será o rei? — perguntou Pedro, pensativo. Flagg retesou-se imperceptivelmente.
— Sim.
Pedro franziu a testa, imerso em reflexão. Parecia mortalmente fatigado, mas não confuso nem amedrontado, e Flagg sentiu uma ponta de apreensão.
— E se eu recusar?
— Se recusar, será rei apesar das acusações terríveis que ficaram sem resposta. Muitos dos seus súditos, a maioria, à luz da evidência, acreditarão estar sendo governados por um jovem que matou o próprio pai para galgar o trono. Penso que haverá revolta e guerra civil, e que essas coisas acontecerão antes que se passe muito tempo. De minha parte, eu me aposentaria e me retiraria para o oeste. Estou velho para recomeçar a vida, mas de qualquer modo teria de tentar. Minha vida tem sido a lei, e eu não poderia servir um rei que não se curvou diante da lei num caso como este.
Houve um silêncio na sala, um silêncio que pareceu interminável. Pedro mantinha-se sentado, com a cabeça baixa, as bases das palmas das mãos comprimindo os olhos. Todos olhavam e esperavam. Agora o próprio Flagg sentia na fronte uma fina camada de suor.
Finalmente, Pedro ergueu a cabeça e tirou as mãos dos olhos.
— Muito bem — disse. — Este é o meu mandado como rei. Eu porei a coroa de lado até ser inocentado da morte de meu pai. O senhor, Peyna, servirá em Delain na condição de chanceler, enquanto durar a ausência de um dirigente real. Quero que o julgamento se proceda com a máxima brevidade... amanhã mesmo, se possível. Eu me renderei à decisão do tribunal. Mas o senhor não me julgará.
Todos pestanejaram e se endireitaram nas cadeiras, ouvindo aquele timbre de fria autoridade, mas o Yosef das cavalariças não se teria espantado: já ouvira aquele tom de voz do rapaz, quando Pedro era apenas um fedelho.
— Um desses quatro o fará — continuou Pedro. — Não serei julgado pelo homem que assumirá o poder no meu lugar... um homem cujos olhares e gestos já traem uma plena convicção de que esse crime inominável foi meu.
Peyna sentiu-se enrubescer.
— Um desses quatro — repetiu Pedro, voltando-se para os procuradores-mores. — Ponham-se quatro pedras, três pretas e uma branca, numa taça. O que tirar a pedra branca presidirá o meu julgamento. Está de acordo?
— Meu senhor, estou — Peyna anuiu devagar, contrariado com o rubor que ainda não lhe abandonara as faces.
Outra vez, Flagg teve de levar a mão à boca para dissimular um sorriso. E essa, meu pequeno, será a sua única ordem como rei de Delain, pensou.
A REUNIÃO, COMEÇADA ÀS três horas, terminou às três e 15. Senados e parlamentos levam dias e meses de lengalenga para resolver uma única matéria — e amiúde não resolvem nada com toda a falação —, mas quando acontecem grandes coisas, em geral decidem rapidamente. E três horas depois, quando começava a escurecer, houve um incidente que fez Pedro dar-se conta, ainda que parecesse loucura, de que seria julgado culpado daquele crime abominável.
Foi escoltado de volta aos seus aposentos por guardas contrafeitos e silenciosos. As refeições, disse Peyna, seriam levadas a ele.
O jantar foi trazido por um corpulento guarda do palácio com uma cerrada barba por fazer. Numa bandeja, trazia um copo de leite e uma grande tigela de sopa fumegante. À entrada do guarda, Pedro levantou-se. Estendeu as mãos para a bandeja.
— Um momento, senhor — disse o guarda em tom de escárnio. — Creio que falta tempero. — E dito isso, cuspiu na sopa. Em seguida, arreganhando um sorriso que expôs uma fileira de dentes em cacos que lembravam uma cerca arruinada, estendeu a bandeja. — Pronto.
Pedro não fez menção de pegá-la. Estava pasmo.
— Por que fez isso? Por que cuspiu na minha sopa?
— Um filho que mata o pai merece algo melhor, senhor?
— Não. Mas um que ainda nem foi julgado pelo crime merece — disse Pedro. — Leve isso e traga-me outra bandeja. Traga-me em 15 minutos ou irá dormir esta noite na masmorra, por baixo de Flagg.
O sorriso de escárnio ofensivo do guarda vacilou um pouco, depois retornou.
— Não creio — disse ele.
Inclinou a bandeja, primeiro um pouco, depois foi inclinando mais. O copo e a tigela se espatifaram nas lajes. O caldo grosso jorrou no chão.
— Lamba — disse o guarda. — Lamba como o cão que você é.
Virou-se para sair. Pedro, repentinamente rubro, saltou à frente e esbofeteou o homem. O som da bofetada ressoou na peça como um tiro de pistola. Com um berro, o mal-ajambrado guarda desembainhou o sabre. Sorrindo sem humor, Pedro ergueu o queixo e deixou à mostra o pescoço.
— Venha — disse. — Um homem capaz de cuspir na sopa de outro deve ser também a espécie de homem capaz de cortar a garganta de um homem desarmado. Venha. Porcos também fazem a vontade de Deus, eu suponho, e a minha vergonha e a minha dor são muito grandes. Se Deus quiser que eu viva, eu viverei, mas se Deus quiser que eu morra e mandou um porco como você para matar-me, que assim seja.
A fúria do guarda se desfez em confusão. Depois de um momento ele embainhou a espada.
— Não vou sujar a minha lâmina — disse, mas as palavras eram quase um resmungo, e ele recuou diante do olhar de Pedro.
— Traga-me de comer e de beber — disse Pedro calmamente. — Não sei com quem você andou conversando, guarda, nem quero saber. Não sei por que está tão ansioso por me condenar pela morte de meu pai, quando nenhum testemunho ainda foi ouvido, tampouco isso me importa. Mas vai trazer-me outra comida e outra bebida, e um guardanapo também, e vai fazê-lo antes que o relógio soe seis e meia, ou mandarei chamar Peyna, e você vai dormir esta noite por baixo de Flagg. Minha culpa não está provada, Peyna ainda está sob as minhas ordens, e eu juro que o que lhe digo é verdade.
Enquanto Pedro falava, o guarda foi empalidecendo mais e mais, porque via que ele falava a verdade. Mas não era o único motivo da sua palidez. Quando os companheiros lhe contaram que o príncipe fora apanhado em flagrante delito, ele tinha acreditado — tinha querido acreditar —, mas agora duvidava. Pedro não parecia nem falava como um culpado.
— Sim, senhor — disse ele.
O soldado saiu. Momentos depois, o capitão da guarda abriu a porta e olhou para dentro.
— Pensei ter ouvido um barulho — disse. Deu com os olhos nos cacos de vidro e louça de barro. — Houve algum problema aqui?
— Nenhum problema — disse Pedro calmamente. — Eu deixei cair a bandeja. O guarda foi buscar-me outra comida.
O capitão assentiu com a cabeça e saiu.
Pedro sentou-se na cama e durante dez minutos refletiu profundamente.
Houve uma breve pancada na porta.
— Entre — disse Pedro.
O guarda barbudo e banguela entrou com uma nova bandeja.
— Senhor, quero pedir desculpas — disse com canhestra rigidez. — Nunca me portei assim em toda a minha vida, e não sei o que me deu. Juro que não sei. Eu...
Pedro dispensou as desculpas com um abano de mão. Sentia-se muito cansado.
— Os outros pensam como você? Os outros guardas?
— Senhor — disse o guarda, pousando cuidadosamente a bandeja sobre a mesinha de Pedro. — Não estou certo, eu, de pensar como pensava antes.
— Mas os outros acham que sou culpado?
Após uma longa pausa, o guarda fez que sim com a cabeça.
— E há algum motivo principal que aleguem contra mim?
— Falam de um rato queimado... dizem que o senhor chorou quando Peyna o confrontou...
Pedro balançou a cabeça com a expressão sombria. Sim. Chorar fora um grande erro. Mas ele não tinha podido conter-se... e não havia remédio.
— Mas dizem principalmente que o senhor foi apanhado com a boca na botija, que o senhor queria ser rei e que tinha de dar nisso.
— Que eu queria ser rei, portanto, tinha de dar nisso — repetiu Pedro.
— Sim, senhor. — O guarda ficou parado olhando para Pedro lastimosamente.
— Obrigado. Agora vá, por favor.
— Senhor, peço que me desculpe...
— Suas desculpas estão aceitas. Por favor, vá. Eu preciso pensar.
Com a expressão de quem preferia nunca ter nascido, o guarda saiu pela porta e fechou-a atrás de si.
Pedro estendeu o guardanapo sobre os joelhos, mas não comeu. Se é que antes chegara a sentir fome, ela se fora. Alisou o guardanapo e pensou na mãe. Sentiu-se contente — muito contente mesmo — de que ela não estivesse viva para ver aquilo, para ver a situação em que ele se encontrava. Em toda a sua vida, ele fora um menino privilegiado, um menino abençoado, um menino a quem, às vezes parecia, nunca poderia acontecer nada de mau. Agora era como se todo o azar que lhe cabia no correr dos anos se tivesse acumulado para ser pago de uma vez só, e com 16 anos de juros.
Mas dizem principalmente que o senhor queria ser rei e que tinha de dar nisso.
No fundo ele compreendia. Eles queriam um rei bom, a que pudessem amar. Mas também queriam saber que tinham escapado por um triz de um mau rei. Queriam segredos sinistros; queriam as tenebrosas intrigas da realeza corrupta. Sabia Deus por quê. Dizem que o senhor queria ser rei e que tinha de dar nisso.
Peyna acredita nisso, refletiu Pedro, e aquele guarda acreditou; todos vão acreditar. Isto não é um pesadelo. Eu fui acusado da morte do meu pai, e nem todo o meu bom comportamento, nem o meu evidente amor por ele irão desfazer a acusação. E uma parte deles quer acreditar que fui eu.
Cuidadosamente tornou a dobrar o guardanapo e colocou-o sobre a tampa da tigela de sopa. Não conseguiria comer.
HOUVE UM JULGAMENTO, e foi uma grande sensação. Existem registros históricos do fato se vocês quiserem ler. Mas a essência do caso é esta: Pedro, filho de Rolando, foi levado perante o magistrado de Delain por causa de um rato queimado; julgado numa reunião de sete que não era um tribunal; condenado por um guarda do palácio que pronunciou seu veredicto cuspindo numa tigela de sopa. Esta é a lenda, e às vezes as lendas contam mais do que os registros, e em menos palavras também.
QUANDO ULRICH WICKS, que tirou a pedra branca e tomou o lugar de Peyna no assento dos juízes, anunciou o veredicto a que chegara o tribunal, os presentes — muitos dos quais durante anos tinham jurado que Pedro seria o melhor rei da longa história de Delain — aplaudiram freneticamente. Levantaram-se e avançaram em massa, e se um cordão de guardas palacianos com as espadas desembainhadas não os tivesse contido, é bem possível que tivessem derrogado a sentença de exílio e prisão perpétuos no alto do Obelisco e linchado o jovem príncipe ali mesmo. Ele foi conduzido para fora sob escarros e cusparadas, mas caminhando de cabeça erguida.
Uma porta à esquerda do salão do tribunal dava para um corredor estreito. Esse corredor estendia-se por uns 40 passos, e ali começava a escada em caracol, cujas voltas intermináveis conduziam ao topo do Obelisco, onde os dois compartimentos em que Pedro viveria doravante, até o dia de sua morte, esperavam por ele. Eram ao todo 300 degraus. Iremos visitar Pedro lá em cima, em seus novos aposentos, oportunamente; sua história, como vocês verão, não termina aí. Mas não subiremos com ele, porque foi uma ascensão marcada pelo opróbrio, deixando embaixo o seu legítimo lugar de rei e marchando, altivo e de cabeça ereta, para o seu lugar de prisioneiro — não seria gentil acompanhá-lo, ou a qualquer outro, em semelhante caminhada.
Em vez disso, pensemos um pouco em Tomás e vejamos o que lhe aconteceu quando caiu em si e descobriu que era rei em Delain.
— NÃO — SUSSURROU TOMÁS numa voz completamente horrorizada.
Tinha os olhos muito arregalados no rosto macilento. A boca lhe tremia. Flagg acabava de dizer-lhe que ele era rei em Delain, mas Tomás não parecia alguém a quem tivessem dito que era o rei; parecia uma pessoa a quem tivessem dito que seria fuzilada na manhã seguinte.
— Não — repetiu. — Eu não quero ser rei.
Era verdade. A vida inteira ele sentira amarga inveja de Pedro, mas algo que nunca invejara fora a futura ascensão deste ao trono. Essa era uma responsabilidade que Tomás, em seus sonhos mais extravagantes, jamais quisera para si. E agora um pesadelo vinha sobrepor-se a outro. Como se não bastasse ter sido despertado com a notícia de estar o irmão prisioneiro no Obelisco pelo assassinato do rei, seu pai, agora estava ali Flagg com a pavorosa informação de que ele era o rei no lugar de Pedro.
— Não, eu não quero ser rei, eu não vou ser rei. Eu... eu me recuso! eu me recuso terminantemente!
— Não pode recusar, Tomás — disse Flagg, incisivo.
Verificara ser a melhor maneira de lidar com Tomás; cordial, mas incisivo. Agora Tomás precisava de Flagg como nunca precisara de ninguém em toda a sua vida. Flagg sabia disso, mas sabia também que estava à mercê de Tomás. Por algum tempo ele seria arisco e desconfiado, capaz de tudo, e era preciso cuidado para ter o menino sob seu controle logo de início.
Você precisa de mim, Tomasinho, mas seria um grave erro eu lhe dizer isso. Não, você é que deve dizer-me. Não poderá haver a menor indecisão quanto a quem está no comando. Nem agora nem nunca.
— Não posso recusar? — sussurrou Tomás. Ele se soerguera sobre os cotovelos ao ouvir a terrível comunicação de Flagg. Frouxamente, deixou-se cair outra vez nos travesseiros. — Não posso? Estou me sentindo fraco de novo. Acho que a febre está voltando. Chame o médico. Talvez eu precise de uma sangria. Eu...
— Você está muito bem — disse Flagg, pondo-se de pé. — Eu enchi você de bons remédios, sua febre acabou, só o que ainda lhe falta é um pouco de ar puro. Mas se precisa de um médico para dizer-lhe a mesma coisa, Tomasinho — (Flagg fez com que uma nota quase imperceptível de censura se insinuasse em sua voz) —, é só puxar a sineta.
Flagg apontou a sineta e deu um pequeno sorriso. Não foi um sorriso dos mais gentis.
— Entendo a sua vontade de esconder-se na cama, mas não seria seu amigo se não lhe dissesse que o refúgio que você pensa encontrar na cama ou tentando fazer-se de doente é um refúgio ilusório.
— Ilusório?
— Eu aconselho que se levante e trate de recuperar as suas forças. Será coroado com pompa e cerimônia regia dentro de três dias. Ser carregado em sua cama até as alas da plataforma, onde Peyna estará à espera com o cetro e a coroa, seria humilhante para um começo de reinado, mas se for preciso, eu lhe garanto que eles o farão. Um reino acéfalo é um reino inquieto. Peyna está decidido a coroá-lo o mais cedo possível.
Tomás, largado nos travesseiros, tentava digerir a informação. Seus olhos eram os de um coelho assustado.
Flagg pegou o seu manto forrado de vermelho, jogou-o sobre os ombros e prendeu junto ao pescoço a corrente de ouro que o fechava. Em seguida, apanhou num canto uma bengala de castão de prata. Fez um floreio com ela, cruzou-a na frente do peito e curvou-se numa profunda mesura na direção de Tomás. O manto... o chapéu... a bengala... à vista daqueles objetos, Tomás se apavorou. Eis que chegara um tempo terrível em que precisava de Flagg como nunca precisara antes, e Flagg parecia vestido para... para...
Ele parecia vestido para viajar.
Seu pânico de alguns momentos atrás fora apenas um ligeiro susto, comparado às gélidas garras que agora apertavam o coração de Tomás.
— E agora, meu caro Tomasinho, desejo-lhe boa saúde por todos os seus dias, toda a alegria que o seu coração possa comportar, um longo e próspero reinado... e adeus!
Dirigiu-se para a porta, e já começava a pensar que de tal modo estaria o rapaz paralisado de terror que ele, Flagg, teria de inventar algum pretexto para voltar por sua própria iniciativa à cabeceira do obtuso pirralho, quando Tomás finalmente conseguiu articular em voz estrangulada uma única palavra:
— Espere!
Flagg voltou-se, compondo uma expressão de solicitude cortês.
— Majestade?
— Aonde... aonde vai?
— Ora... — Flagg pareceu surpreso, como se até agora não lhe tivesse ocorrido supor que Tomás se importasse com isso. — A Andua, para começar. Os anduanos são grandes marinheiros, como você sabe, e há muitas terras além do Mar do Amanhã que eu nunca vi. Às vezes, um capitão se dispõe a levar um mago a bordo para dar sorte, para conjurar o vento em caso de calmaria, ou para predizer o tempo. Se nenhum quiser um mago... bem, eu não sou tão jovem como quando aqui cheguei, mas ainda sei manejar uma sonda e desfraldar uma vela.
Sorrindo, Flagg fez a mímica, sem largar a bengala. Tomás estava novamente apoiado sobre os cotovelos.
— Não! — ele quase gritou. — Não!
— Majest...
— Não me chame assim!
Flagg aproximou-se dele, permitindo-se agora uma expressão de maior preocupação.
— Tomasinho, então. Tomasinho, meu querido. Qual é o problema?
— Qual é o problema? Qual é o problema? Como pode ser tão estúpido? Meu pai envenenado, Pedro no Obelisco condenado pelo crime, eu tendo de ser rei, você pretendendo ir embora, e ainda pergunta qual é o problema! — Tomás soltou uma risadinha nervosa.
— Mas tudo isso tem de ser desse jeito, Tomasinho — disse Flagg suavemente.
— Eu não posso ser rei — disse Tomás. Agarrou o braço de Flagg e enterrou as unhas na estranha carne do bruxo. — Era Pedro que devia ser o rei, foi sempre Pedro o inteligente, eu era estúpido, eu som estúpido, eu não posso ser rei!
— É Deus que faz os reis — disse Flagg. Deus... e, às vezes, os magos, pensou com um risinho interior. — Ele fez de você rei, e, ouve bem, Tomasinho, você será rei. Ou será rei ou se cobrirá de vergonha.
— Que seja a vergonha, então! Eu me matarei!
— Não cometerá tal gesto.
— Melhor matar-me que ser motivo de riso por mil anos como o príncipe que morreu de medo.
— Você se tornará um rei, Tomasinho. Não duvide. Mas eu preciso ir. Os dias estão frios, e as noites mais ainda. E eu quero estar fora da cidade antes que escureça.
— Não, fique! — Tomás, em desespero, agarrou-se à capa de Flagg. — Se eu tenho de ser rei, então fique e me aconselhe, como aconselhou meu pai! Não vá! Afinal, não sei por que você quer ir embora! Sempre esteve aqui!
Ah!, finalmente, pensou Flagg. Isso é bom... na verdade, isso é esplêndido.
— É duro partir — disse Flagg gravemente. — Muito triste. Eu amo Delain. E amo você, Tomasinho.
— Então fique!
— Não compreende a minha situação. Anders Peyna é um homem poderoso... um homem muito poderoso. Ele não gosta de mim. Diria mesmo que talvez ele me odeie.
— Por quê?
Em parte porque ele sabe há quanto tempo... há que tempo enorme... eu estou aqui. Mas, eu creio, porque pressente exatamente o que eu pretendo fazer com Delain.
— É difícil dizer, Tomasinho. Suponho que tenha a ver com o fato de ele ser um homem muito poderoso, e os poderosos geralmente olham com despeito outros homens igualmente poderosos. Homens como o conselheiro particular de um rei, por exemplo.
— Como você, que era o conselheiro particular do meu pai?
— Sim. — Flagg pegou a mão de Tomás e apertou-a por alguns momentos. Depois, soltou-a e suspirou desconsoladamente. — Os conselheiros de reis são mais ou menos como as corças do parque particular de um rei. Essas corças são mimadas, afagadas e alimentadas na mão. Como as corças mansas, os conselheiros têm vida agradável, mas não poucas vezes tenho visto uma corça mansa do parque acabar na mesa do rei, quando suas reservas de caça não produzem um gamo selvagem para os bifes ou o cozido do jantar. Quando um monarca reinante morre, os antigos conselheiros costumam desaparecer misteriosamente.
Tomás mostrou-se alarmado e revoltado.
— Peyna ameaçou você?
— Não... ele tem sido muito generoso — disse Flagg. — Muito paciente. Mas eu leio nos olhos dele, e sei que a sua paciência não vai durar para sempre. Os olhos dele me dizem que eu acharia o clima de Andua mais saudável. — Levantou-se com novo volteio da capa. — Assim... por mais que me custe partir...
— Espere! — exclamou Tomás outra vez, e naquele rosto pálido e desesperado Flagg viu todas as suas ambições prestes a se consumarem. — Se estava protegido quando meu pai era rei, porque você era conselheiro dele, não estaria protegido, agora que eu sou rei, se fosse meu conselheiro?
Flagg pareceu refletir profunda e gravemente.
— Sim... suponho... se você tornasse muito claro a Peyna... muito claro mesmo... que qualquer ato contra mim seria reprovado pelo rei. Grandemente reprovado.
— Ah, eu farei isso! — disse Tomás sofregamente. — Eu farei! Então você fica? Por favor! Se você se for, juro que me mato! Eu não entendo nada de ser rei, e vou me matar!
Flagg permaneceu ainda de cabeça baixa, o rosto oculto em sombra, aparentemente em reflexão solene. Na verdade, estava sorrindo.
Mas, quando ergueu a cabeça, tinha o rosto grave.
— Eu tenho servido o reino de Delain quase a minha vida inteira — disse — e acho que se me ordenar que fique... que fique e que lhe sirva no limite das minhas possibilidades...
— Eu ordeno! — bradou Tomás em voz trêmula e febril. Flagg pousou um joelho no chão.
— Majestade! — disse.
Tomás, soluçando de alívio, atirou-se nos braços de Flagg, que o susteve e abraçou.
— Não chore, meu pequeno rei — sussurrou. — Tudo ficará bem. Sim, tudo ficará bem para você, para mim e para o reino.
Seu sorriso alargou-se, mostrando dentes muito brancos e fortes.
TOMÁS NÃO CONSEGUIU pregar olho na noite da véspera da sua coroação na Praça do Obelisco, e nas primeiras horas daquele dia fatídico foi acometido por um terrível acesso de vômitos e diarréia ocasionado pelo nervosismo — era o chamado “pavor do palco”. Nervosismo diante do palco parece tolo e engraçado, mas não havia naquilo nada de tolo ou de engraçado. Tomás era ainda apenas um menino, e o que ele sentiu à noite, que para todo mundo são horas de grande solidão, foi um paroxismo de medo tão enorme que não seria exagero chamá-lo de terror mortal. Tocou a sineta chamando um criado e mandou-o buscar Flagg. O criado, alarmado com a palidez de Tomás e com o cheiro de vômito no quarto, fez todo o caminho correndo e mal esperou permissão para precipitar-se porta adentro e informar a Flagg que o jovem príncipe estava passando muito mal, talvez estivesse morrendo.
Flagg, que fazia uma idéia de qual fosse o problema, disse ao criado que voltasse e dissesse ao amo que estaria com ele num momento, e que ficasse tranqüilo. Vinte minutos depois chegou lá.
— Eu não posso ir adiante com isso — gemeu Tomás. Tinha vomitado na cama, e os lençóis cheiravam mal. — Não posso ser rei, não posso, pelo amor de Deus, você tem que evitar isso, como posso prosseguir se corro o risco de vomitar na frente de Peyna e de todos, vomitar ou... ou...
— Você vai estar muito bem — disse Flagg calmamente. Preparara uma mistura que acalmaria o estômago de Tomás e temporariamente lhe arrolharia as tripas. — Beba isto.
Tomás obedeceu.
— Eu vou morrer — disse, pondo o copo de lado. — Não precisarei matar-me. Meu coração vai simplesmente estourar de medo. Meu pai contava que às vezes coelhos apanhados no laço morrem assim, mesmo sem se terem machucado. É isso que eu sou. Um coelho na armadilha, morrendo de medo.
Tem razão em parte, queridinho, pensou Flagg. Não vai morrer de medo como pensa, mas é como um coelho na armadilha.
— Acho que vai mudar de idéia quanto a isso — disse Flagg.
Estivera misturando uma segunda poção. Era de um rosado vaporoso — uma cor que acalma.
— O que é isso?
— Para acalmar-lhe os nervos e deixá-lo dormir.
Tomás bebeu. Flagg ficou sentado à beira da cama. Em pouco tempo, Tomás caiu num sono profundo — tão profundo que se o criado o visse agora poderia achar que a sua previsão se realizara e Tomás estava morto. Flagg tomou a mão do menino adormecido na sua e afagou-a com o que parecia uma espécie de amor. A seu modo, realmente ele amava Tomás, mas Sacha teria sabido o que era na verdade o amor de Flagg: o amor do dono por um cachorrinho de estimação.
Ele é tão parecido com o pai, pensava Flagg, e o velho nunca se deu conta disso. Ah, Tomasinho, vamos nos divertir muito, você e eu, e antes que eu acabe, o reino será banhado de sangue real. Eu estarei ausente, mas não estarei longe, pelo menos no princípio. Eu voltarei disfarçado e demorarei o bastante para ver a sua cabeça mumificada na ponta de uma estaca... e para abrir com a minha adaga o peito do seu irmão, e arrancar-lhe o coração, e comê-lo cru, como o seu pai comeu o coração do seu precioso dragão.
Sorrindo, Flagg saiu do quarto.
A COROAÇÃO OCORREU sem quaisquer contratempos ou complicações. Os criados de Tomás (sendo muito jovem, ele não tinha mordomo, o que logo seria resolvido) vestiram-no para a ocasião em finas roupas de veludo negro, recamadas de gemas (todas minhas, pensou Tomás com assombro — e com crescente cobiça —, agora são todas minhas) e botas pretas do mais fino couro de cabrito. Quando Flagg apareceu pontualmente às llh30 e disse: “Está na hora, Majestade”, Tomás estava bem menos nervoso do que esperara. O sedativo que o mágico lhe dera na noite anterior ainda não perdera o efeito.
— Então, segure-me o braço — disse — para eu não tropeçar. — Flagg tomou o braço de Tomás. Nos anos subseqüentes, seria uma postura que os moradores da cidade se habituariam a ver: Flagg parecendo amparar o reizinho como se ele fosse um velho e não um jovem saudável.
Saíram juntos para o claro sol de inverno.
Uma ovação tão grande como o som das vagas quebrando-se nas praias desoladas do Baronato do Leste saudou-lhes a chegada. Tomás olhou em volta, aturdido pelo barulho, e seu primeiro pensamento foi: Onde está Pedro? Isso só pode ser para Pedro! Depois, lembrou-se de que Pedro estava no Obelisco e compreendeu que os aplausos eram para ele. Experimentou uma sensação incipiente de prazer... e é preciso que se diga que o prazer não foi só de saber que os aplausos eram para ele. Ele sabia que Pedro, fechado em sua torre solitária, decerto estaria ouvindo a aclamação.
Que importa agora que você fosse sempre o melhor nos estudos?, pensou Tomás com uma exultação mesquinha que incomodava e, ao mesmo tempo, aquecia. Que importa agora? Está trancado no Obelisco, e eu... Eu serei rei! Que importa que você levasse um copo de vinho todas as noites e...
Mas esta última lembrança fez brotar-lhe na testa um suor estranho e viscoso; e ele expulsou a idéia de si.
Os aplausos retornaram vibrantes quando ele e Flagg primeiro atravessaram a Praça do Obelisco e, em seguida, passaram pelo túnel de espadas levantadas da guarda do palácio, de novo enfarpelada em seus belos uniformes de gala vermelhos e seus barretes de queixada de lobo. Tomás começou a gostar de tudo aquilo. Levantou a mão em saudação, e o aplauso dos vassalos transformou-se numa tempestade. Homens atiravam ao ar os seus chapéus. Mulheres choravam de alegria. Gritos de O rei! O rei! Eis o rei! Tomás, o Portador da Luz! Viva o rei!, vibravam no ar. Tomás, que era apenas um menino, pensava que fossem para ele. Flagg, que talvez nunca tivesse sido um menino, sabia que não. Os aplausos eram porque o tempo de insegurança tinha passado. Festejavam o fato de que tudo continuaria como sempre, que as lojas podiam reabrir, que já não haveria soldados carrancudos com cascos de couro justos na cabeça patrulhando à noite o recinto das muralhas, que depois da solene cerimônia todos poderiam embebedar-se sem receio de ser acordado pelo barulho de confusas revoltas noturnas. Nada mais nada menos que isso. Tomás podia ter sido qualquer um, absolutamente qualquer um. Era uma figura de proa.
Mas Flagg cuidaria que Tomás nunca soubesse disso.
Pelo menos não antes que fosse tarde.
A cerimônia foi curta. Anders Peyna, que parecia estar mais velho 20 anos, oficiou. Tomás respondeu sim, prometo, juro nos momentos devidos, conforme Flagg o instruíra. Ao fim das formalidades, conduzidas num silêncio tão solene que mesmo quem se encontrava nas orlas mais distantes da enorme multidão pôde ouvi-las claramente, a coroa foi posta na cabeça de Tomás. Novas aclamações ecoaram, mais estrondosas que nunca, e Tomás olhou para cima — percorrendo a face lisa e arredondada da torre de pedra do Obelisco, até o topo, onde havia uma única janela. Não pôde ver se Pedro estava olhando para baixo e mordendo os lábios de decepção até que o sangue lhe escorresse pelo queixo — como ele, Tomás mordera os lábios tantas vezes —, até formar ali uma rede de finas cicatrizes.
Está ouvindo, Pedro?, gritou mentalmente. Estão me aplaudindo! Estão me aplaudindo! Finalmente estão me aplaudindo!
EM SUA PRIMEIRA noite como rei Tomás, o Portador da Luz, acordou sentado na cama, com os olhos arregalados, a face crispada e horrorizada, as mãos fechadas comprimindo a boca como se abafando um grito. Acabava de ter um pesadelo medonho, ainda pior que aqueles em que revivera a pavorosa tarde na Torre Leste.
O sonho de agora também fora uma espécie de experiência revivida. Ele estava outra vez na passagem secreta, espiando o pai. Era a noite em que o pai estivera tão embriagado e furioso, cambaleando ao redor da sala e desafiando as cabeças penduradas nas paredes. Mas quando o pai chegou à cabeça de Niner, disse algo diferente.
Por que está aí me olhando?, o pai gritou no sonho. Ele me matou, e eu suponho que você não poderia evitá-lo, mas como foi capaz de ver o seu irmão encarcerado por isso? Responda, maldito! Eu fiz o melhor que pude, e olhe para mim agora! Olhe só para mim!
O pai começou a pegar fogo. O rosto se acendeu com o vermelho fosco de uma fornalha abafada. Os olhos, o nariz e a boca expeliram fumaça. Ele se curvou sobre si mesmo em agonia, e Tomás viu que os cabelos do pai estavam em chamas. Foi quando acordou.
O vinho!, pensou agora, com horror. Flagg levou-lhe um copo de vinho naquela noite! Todos sabiam que Pedro lhe oferecia vinho todas as noites, por isso todos pensam que Pedro envenenou o vinho! Mas Flagg também levou-lhe vinho naquela noite, e nunca tinha feito isso antes! E o veneno veio de Flagg! Ele disse que o tinham roubado dele anos antes, mas...
Não permitiria a si mesmo pensar nisso. Não. Porque se pensasse nisso...
— Ele me mataria — sussurrou Tomás, horrorizado.
Podia falar com Peyna. Peyna não gosta dele.
Sim, isso ele podia. Mas aí voltou todo o seu antigo despeito e ciúme de Pedro. Se ele falasse, Pedro seria libertado do Obelisco e tomaria o seu lugar como rei. Tomás voltaria a ser uma insignificância, um príncipe trapalhão que fora rei por um dia, e nada mais.
Bastara um dia para Tomás descobrir que podia gostar de ser rei — que podia gostar muito, sobretudo com Flagg para ajudá-lo. De mais a mais, ele não sabia propriamente coisa alguma, sabia? Era apenas uma idéia. E as idéias dele tinham sido sempre erradas.
Ele me matou, e eu suponho que você não poderia evitá-lo, mas como foi capaz de ver o seu irmão encarcerado por isso?
Esqueça, pensou Tomás, não deve ser nada disso, não pode ser nada disso, e se for, bem-feito! Virou-se de lado, resolvido a voltar a dormir. E o sono veio depois de muito tempo.
Nos anos que se seguiram, o mesmo pesadelo voltou algumas vezes — o pai acusando o filho espião e depois, curvado, fumegando com os cabelos em fogo. Naqueles anos, Tomás descobriu duas coisas: as culpas e os segredos, como os ossos de assassinados, nunca descansam em paz; mas é possível lidar com essas três coisas.
SE LHE PERGUNTASSEM, Flagg diria com bem-humorado desdém que Tomás era incapaz de esconder um segredo de alguém que não fosse um débil mental, e talvez nem mesmo sendo este o caso. Certamente não esconderia um segredo, Flagg diria, do homem que maquinara a sua ascensão ao trono. Mas homens como Flagg são cheios de orgulho e confiança em si, e ainda que enxerguem muito, às vezes são estranhamente cegos. Flagg nunca adivinhou que naquela noite Tomás estivera atrás da cabeça do dragão, e que vira Flagg dar a Rolando o copo de vinho envenenado. Esse segredo Tomás guardou.
ACIMA DA FESTA da coroação, no alto do Obelisco, Pedro estava de pé na janelinha, olhando para baixo. Como Tomás desejara, tinha visto e ouvido tudo, desde os primeiros aplausos, quando o irmão aparecera apoiado no braço de Flagg, até as saudações finais, quando desaparecera pela entrada do palácio, também pelo braço de Flagg.
Por quase três horas, depois de terminada a cerimônia, permaneceu à janela, observando a multidão. Esta relutava em desfazer-se e voltar para casa. Havia muito a comentar e muito a reviver. Fulano tinha de contar a sicrano exatamente onde se encontrara ao saber que o velho rei estava morto, depois os dois tinham de contar a beltrano. As mulheres derramavam por Rolando algumas lágrimas finais e trocavam com euforia as suas impressões de como Tomás estava bonito, e de como se mostrara calmo. As crianças corriam umas atrás das outras, brincavam de rei, rodavam arcos, caíam e esfolavam os joelhos e berravam, depois riam e voltavam a correr umas atrás das outras. Os homens davam tapas nas costas e diziam uns aos outros que achavam que agora tudo ia ficar bem — fora uma semana terrível, mas agora tudo ia correr bem. No entanto, em meio a tudo isso, circulava uma vaga corrente de desassossego, como se as pessoas percebessem que nem tudo ia bem, que as coisas que tinham andado tão mal quando da morte de Rolando ainda não tinham entrado nos eixos.
É claro que Pedro não podia perceber nada disso, do alto de seu pouso solitário no Obelisco, mas pressentia algo. Sim, alguma coisa.
Às três horas da tarde, com antecedência de três horas, as tavernas abriram as portas, supostamente em homenagem à coroação do novo rei, mas, sobretudo, no interesse dos negócios. As pessoas queriam beber e celebrar. Pelas sete da noite, a maior parte da população cambaleava nas ruas, bebendo à saúde de Tomás, o Portador da Luz (ou altercando entre si). Estava quase escuro quando os bebedores finalmente começaram a se dispersar.
Pedro saiu da janela, dirigiu-se para a única cadeira de sua “sala de estar” (o nome era um gracejo cruel) e calmamente sentou-se com as mãos cruzadas no colo. Ficou ali sentado, enquanto observava o recinto escurecer. Veio o jantar — carne sebosa, cerveja aguada e pão preto tão salgado que lhe teria irritado a língua, se ele tivesse comido. Mas Pedro não comeu da carne nem do pão, nem bebeu da cerveja.
Lá pelas nove horas da noite, quando a confusão recomeçou nas ruas (desta vez eram hordas muito mais turbulentas... quase desenfreadas), Pedro foi para o outro compartimento de sua prisão, despiu-se, ficando de camiseta, lavou-se com água da bacia, ajoelhou-se junto à cama e rezou. Depois, deitou-se na cama. Havia apenas um cobertor, embora a pequena alcova fosse muito fria. Pedro puxou-o sobre o peito, trançou as mãos na nuca e fitou a escuridão.
De fora, vinham gritos, vivas e risadas. A espaços pipocavam foguetes e uma vez, por volta da meia-noite, ouviu-se um rojão explodir, quando um soldado bêbado detonou uma carga de festim (no dia seguinte, o infeliz foi despachado para o mais longínquo dos confins orientais do reino de Delain, por causa de sua embriagada saudação ao novo rei — a pólvora era rara em Delain e cuidadosamente guardada).
Passava de uma da manhã quando finalmente Pedro fechou os olhos e dormiu.
Acordou às sete. Ajoelhou-se tremendo de frio, expelindo baforadas brancas pela boca, a pele arrepiada nas pernas e nos braços nus, e rezou. Terminadas as preces, vestiu-se. Foi para a “sala de estar” e ficou na janela em silêncio por quase duas horas, vendo a cidade voltar à vida lá embaixo. Essa volta à vida foi mais lenta e irregular que de costume: a maioria dos adultos de Delain acordara com a cabeça inchada de bebida. Saíram para cuidar da vida a passos incertos e arrastados, e de humor azedo. Muitos dos homens foram cuidar de seus afazeres ouvindo a reclamação das esposas irritadas que não se condoeram das suas dores de cabeça (também Tomás teve dor de cabeça — bebera muito vinho na noite anterior —, mas pelo menos de descomposturas conjugais estava livre).
Pedro recebeu o seu café-da-manhã. Beson, o chefe dos carcereiros (que também amargava em ressaca), serviu-lhe uma papa de farelo sem açúcar, leite aguado já meio azedo e o mesmo pão preto salgado. Era um amargo contraste com os desjejuns saborosos que Pedro degustava em sua sala de estudo, e ele não comeu nada.
Às 11 horas, um dos carcereiros ajudantes levou tudo embora em silêncio.
— O principelho quer morrer de fome, me parece — disse ele a Beson.
— Bom — replicou Beson com indiferença. — Poupa-nos o trabalho de tomar conta dele.
— Vai ver está com medo de ser envenenado — arriscou o ajudante, e, apesar da cabeça dolorida, Beson deu uma risada. A pilhéria era boa.
Pedro passou a maior parte do dia na cadeira da “sala de estar”. No fim da tarde, foi outra vez para a janela. Ela não tinha grades. A menos que fosse um pássaro, não havia aonde ir senão diretamente para baixo. Ninguém, nem Peyna, nem Flagg, nem Aron Beson, receava que de algum modo o prisioneiro pudesse descer por ali. A parede curva de pedra do Obelisco era perfeitamente lisa. Uma mosca poderia, um homem não.
E se ele ficasse deprimido a ponto de saltar, alguém se importaria? Não muito. Pouparia ao Estado a despesa de alojar e alimentar um assassino de sangue azul.
Quando a luz do sol começou a avançar no chão e subir pela parede, Pedro sentou e contemplou-a. Veio o jantar — mais carne gordurosa, cerveja aguada e pão salgado. Pedro não tocou em nada.
Logo que o sol se pôs, ficou sentado no escuro até as nove horas, e depois foi para o quarto. Tirou a roupa, menos a camiseta, ajoelhou e rezou, lançando pela boca pequenas nuvens brancas. Deitou-se na cama, enlaçou as mãos debaixo da cabeça e ficou de costas, fitando a escuridão. Ficou ali deitado pensando no que fora feito dele. Por volta de uma da manhã, adormeceu.
Assim foi o seu segundo dia.
E o terceiro.
E o quarto.
Por uma semana inteira Pedro não comeu nada, não falou nada, não fez nada além de olhar pela janela da sala de estar ou de sentar-se na cadeira, acompanhando a lenta progressão do sol no piso e parede acima do teto. Para Beson, o rapaz estava mergulhado numa densa treva de culpa e desespero — já vira isso acontecer, principalmente entre a realeza. O rapaz ia morrer, pensou, como um pássaro silvestre que não nasceu para viver engaiolado. O rapaz ia morrer, e que bons ventos o levassem.
Mas, no oitavo dia, Pedro mandou chamar Beson para dar-lhe algumas instruções... e não falou como um prisioneiro.
Falou como um rei.
É CERTO QUE PEDRO sentia desespero... mas não tão fundo quanto Beson imaginara. Naquela primeira semana no Obelisco, ele passou a refletir minuciosamente em sua posição, no esforço de resolver o que faria. Jejuara para clarificar as idéias. Ao final elas clarearam, mas durante um certo tempo sentiu-se completamente perdido, e o peso da situação comprimia-lhe a cabeça como uma bigorna. Assim, ocorreu-lhe uma verdade simples: ele sabia que não matara o pai, embora todos pensassem diferente no reino.
A princípio, por um ou dois dias, remoeu sentimentos inúteis. O seu lado infantil insistia em lamentar-se: Não é justo! Isto não é justo! E não era mesmo, mas pensamentos dessa espécie não o levavam a lugar algum. Jejuando, começou a recobrar o domínio de si mesmo. O ventre vazio fez com que ele se desembaraçasse daquele componente de criança. Passou a sentir-se mais limpo, livre, vazio... como um copo esperando para ser enchido. Após dois ou três dias sem comer, os roncos do estômago diminuíram, e ele começou a ouvir mais claramente seus verdadeiros pensamentos. Rezava, mas uma parte dele sabia que ele fazia mais do que rezar: estava falando a si mesmo, ouvindo a si mesmo, conjecturando se haveria um caminho de saída daquele cárcere no céu a que tão habilmente fora conduzido.
Não tinha matado o pai. Esse era o primeiro fato. Alguém lançara a culpa sobre ele. Era o segundo fato. Quem? Só havia uma única pessoa que podia tê-lo feito, claro: uma única pessoa em todo o território de Delain teria um veneno tão terrível como a areia-de-dragão.
Flagg.
A lógica era perfeita. Flagg sabia que não teria lugar num reino em que Pedro governasse. Flagg cuidara de fazer amizade com Tomás... e de fazer com que Tomás tivesse medo dele. De algum modo, Flagg assassinara Rolando e forjara as provas que levaram Pedro para onde ele estava.
A esse ponto ele chegou na terceira noite do reinado de Tomás.
O que fazer nesse caso? Aceitar, simplesmente? Não, não aceitaria. Fugir? Não podia. Ninguém jamais fugira do Obelisco.
A não ser...
O lampejo ficou mais brilhante.
Talvez houvesse um meio de fuga. Talvez. Seria terrivelmente arriscado, e levaria tempo. Ao fim de muito trabalho, ele podia morrer, apesar de todos os esforços. Mas... também podia dar certo.
E se conseguisse fugir, o que faria depois? Haveria um modo de provar a culpa do bruxo? Pedro não sabia. Flagg era uma serpente astuta — não teria deixado vestígios do que fizera que pudessem incriminá-lo mais tarde. Poderia Pedro arrancar uma confissão do bruxo? Talvez pudesse, sempre supondo que, antes de tudo, lhe pusesse a mão. Flagg poderia desaparecer como fumaça ao saber que Pedro escapara do Obelisco. E se Pedro conseguisse arrancar-lhe a confissão, alguém acreditaria nela? Ah, claro, ele confessou que assassinou Rolando, diriam as pessoas. Pedro, o parricida fugitivo, encostou-lhe uma espada na garganta. Nessa situação, eu confessaria qualquer coisa, até o assassinato de Deus!
Vocês devem estar achando engraçado que Pedro resolvesse essas idéias na cabeça estando ainda trancafiado 100 metros acima do chão. Devem estar pensando que ele estava pondo o carro diante dos bois. Mas Pedro tinha atinado um jeito de escapar. É certo que podia ser um jeito de morrer antes do tempo, mas ele achou que havia uma chance de dar certo. No entanto... haveria justificativa para todo o esforço, se no fim das contas ele não servisse para nada? Ou, pior ainda, se de algum modo imprevisto viesse a resultar em novas ameaças para o reino?
Ele refletiu sobre tudo isso e orou para encontrar inspiração. A quarta noite passou... a quinta... a sexta. Na sétima noite, Pedro chegou a esta conclusão: era melhor tentar do que não tentar; melhor fazer um esforço para corrigir o que estava errado, ainda que viesse a morrer na tentativa. Uma injustiça fora cometida. Ele descobriu algo inesperado — o fato de a injustiça ter sido cometida contra ele parecia não ter a metade da importância do simples fato de ter sido cometida. Devia ser corrigida.
No oitavo dia do reinado de Tomás, ele mandou chamar Beson.
BESON ESCUTOU O DISCURSO do príncipe cativo com incredulidade e crescente indignação. Pedro terminou, e Aron Beson despejou uma enxurrada de obscenidades que teria feito corar um cavalo.
Pedro enfrentou tudo impassível.
— Seu cão desprezível e assassino! — arrematou Beson, num tom quase maravilhado. — Acho que você pensa que ainda está vivendo a sua vida de cãozinho mimado, com seus criados correndo cada vez que você levanta um dos seus dedinhos perfumados. Aqui as coisas não são assim, meu fedelho. Não, senhor.
Beson inclinou-se para a frente, o queixo barbudo em ângulo agressivo, e embora o mau cheiro que ele exalava — suor, bafo de vinho barato e grandes escamas cinzentas de imundície — fosse quase insuportável, Pedro não cedeu terreno. Não havia grades entre eles; Beson nunca fora homem de se deixar assustar por um preso, e decerto não sentia medo daquele rapazola malcriado. O chefe dos carcereiros tinha 50 anos, era baixo, troncudo e barrigudo. O cabelo sebento caía-lhe emaranhado em torno das bochechas e ao longo do pescoço. Quando entrara na cela de Pedro, um dos ajudantes fechara a porta atrás dele.
Beson cerrou o punho esquerdo e sacudiu-o debaixo do nariz de Pedro. Sua mão direita enfiou-se na algibeira da camisa e fechou-se em torno de um cilindro de metal. Um golpe duro com aquele punho chumbado quebraria o maxilar de um homem. Beson já o tinha feito antes.
— Pegue as suas solicitações e meta-as nas ventas com o resto das melecas, meu caro principezinho. E da próxima vez que me chamar aqui para me vir com esse tipo de palavrório, vai se ver comigo.
Atarracado e corcunda, quase parecendo um ogro, Beson afastou-se em direção à porta, carregando em torno dele a sua espessa aura de fedor.
— Está se arriscando a cometer um engano muito sério — disse Pedro. Sua voz era suave, mas ameaçadora, e repercutiu.
Beson voltou-se para ele com cara de incredulidade.
— Como é?
— Você me ouviu — disse Pedro. — E da próxima vez que falar comigo, seu fedorento, acho melhor se lembrar de que está falando à realeza, ouviu? Minha linhagem não mudou quando eu subi essas escadas.
Por um momento, Beson ficou incapaz de responder. Abria e fechava a boca como um peixe arrancado ao mar — se bem que um pescador que pescasse algo tão feio como Beson certamente o teria rejeitado. As solicitações descaradas de Pedro — solicitações expressas num tom que deixava claro tratar-se na verdade de exigências que não admitiam recusa — tinham feito a cabeça de Beson zunir de raiva. Uma das solicitações ou fora de um rematado maricas, ou então de um louco varrido. Essa Beson tinha preterido de saída como disparate e baboseira. A outra, porém, tinha a ver com comida. Essa, junto com a firmeza resoluta dos olhos de Pedro, dava a entender que o jovem príncipe se libertara do seu desespero e decidira viver.
As futuras perspectivas de dias ociosos e noites de farra tinham-se afigurado brilhantes. Agora, estavam de novo se desvanecendo. Via-se que o rapaz era forte e saudável. Poderia viver por muito tempo. Era bem provável que Beson tivesse de ver a cara do jovem assassino pelo resto dos seus próprios dias — esse era um pensamento de dar nos nervos de um homem! E...
Fedorento? Ele me chamou de fedorento?
— Ah!, meu belo principezinho — disse Beson —, eu acho que foi você quem cometeu o engano... mas posso garantir-lhe que nunca voltará a cometê-lo.
Abriu a boca num sorriso, revelando uns poucos cacos de dentes enegrecidos. Agora, prestes a atacar, ele se movia com surpreendente graça. A mão direita saiu da algibeira envolvendo a barra de metal.
Pedro recuou um passo, olhando alternadamente dos punhos cerrados de Beson para a cara dele e de novo para os punhos. Atrás de Beson, o pequeno postigo gradeado no meio da porta de Pedro estava aberto. Dois dos carcereiros ajudantes estavam ali espremidos, bochecha contra bochecha barbuda, arreganhando sorrisos e esperando a função começar.
— Você sabe que prisioneiros reais fazem jus a pequenas regalias — disse Pedro, ainda recuando e dando voltas. — É a tradição. E eu não pedi a você nada impróprio.
O sorriso de Beson se alargou. Parecera-lhe ouvir o medo na voz de Pedro. Estava enganado. Um erro que em pouco se voltaria contra ele de um modo a que ele não estava habituado.
— Essas tradições têm preço, mesmo entre a realeza, meu principezinho — Beson esfregou o polegar no indicador da mão esquerda. O punho direito continuava comprimindo o toco de metal.
— Se você está querendo dizer que quer de tempos em tempos uma pequena gratificação ocasional, isso pode arranjar-se — disse Pedro, sempre dando voltas. — Mas só se interromper esse seu procedimento imbecil.
— Você está com medo, hein?
— Se alguém aqui devia estar com medo, acho que é você — respondeu Pedro. — Ao que parece, está pensando em agredir o irmão do rei de Delain.
O tiro acertou o alvo, e por um momento Beson vacilou. Seus olhos refletiram incerteza. Depois, olhou para o postigo da porta, viu a cara de seus ajudantes, e seu semblante novamente se fechou. Se agora ele voltasse atrás, teria dificuldade com eles — nada que não pudesse enfrentar, é certo, mas de qualquer modo mais aborrecimentos do que merecia o patifezinho.
Avançou rapidamente um passo e arremessou o punho chumbado. Estava sorrindo. Os gritos de Pedro caído no chão de pedra, com o nariz ferido e ensangüentado apertado nas mãos, seriam, imaginava Beson, estridentes e infantis.
Pedro desviou-se facilmente, os pés movendo-se com graça como se numa dança. Agarrou o punho de Beson e não se admirou nem um pouco do peso — tinha visto o brilho do metal entre os dedos cabeludos de Beson. Puxou com um vigor resistente que
Beson cinco minutos atrás não teria suspeitado. Beson rodopiou no ar e bateu contra a parede curva da “sala de estar” de Pedro, uma colisão que lhe fez rangerem os poucos dentes que lhe restavam. Estrelas explodiram-lhe na cabeça. O cilindro de metal voou-lhe da mão e rolou no piso. E, antes que Beson recuperasse o equilíbrio, Pedro saltou e apoderou-se dele. Movia-se com a fluidez pura e simples de um gato.
Isso não pode estar acontecendo, pensou Beson, desnorteado e estupefato. Isso absolutamente não pode estar acontecendo.
Jamais ele receara entrar na dupla cela da torre do Obelisco, porque jamais houvera ali um prisioneiro, fosse de sangue nobre, fosse de sangue real, capaz de derrotá-lo. Ah, sim, tinha havido algumas boas refregas, mas ele sempre mostrara quem mandava. Podia ser que lá embaixo eles cantassem de galo, mas cá em cima era ele quem dava as cartas, e eles aprenderam a respeitar-lhe a imunda e maciça superioridade. E agora esse pirralho...
Com um grito de raiva, Beson desencostou-se da parede, sacudindo a cabeça para clareá-la, e arremeteu contra Pedro, que agora empalmava o cilindro de metal na mão direita. Os ajudantes, pasmos, assistiam de olhos arregalados ao desenrolar daquele lance inesperado. Nenhum dos dois pensou em intervir: como Beson, não acreditavam no que estavam vendo.
Beson correu para Pedro com os braços estendidos. Agora que o príncipe lhe arrebatara o cilindro de chumbo, Beson já não se interessava por aquela encenação de meneios e socos que ele imaginava como “boxe”. Queria fazer contato com Pedro, atracar-se com ele, derrubá-lo, plantar-se em cima dele e depois estrangulá-lo até que ele perdesse os sentidos.
Mas o espaço ocupado por Pedro esvaziou-se como num passe de mágica, quando ele saltou para um lado, caindo em posição meio agachada. Quando o atarracado chefe dos carcereiros passou por ele, tentando virar, Pedro atingiu-o três vezes com o punho direito, fechado em torno do cilindro de metal. Um joguinho não muito limpo, pensou Pedro, mas, afinal, não fui eu quem inventou usar este pedaço de metal, não é mesmo? Os golpes não pareceram violentos. Se Beson estivesse assistindo a uma luta e visse aqueles três socos em rápida sucessão, teria achado graça e lhes chamado “socos de mariquinhas”. Para Beson, um soco de macho era um golpe numa volta completa, que fizesse o ar assobiar.
Mas não foram socos de mariquinhas, não importa o que outros como Beson pudessem ter pensado. Cada um deles foi dado a partir do ombro, como o instrutor de boxe tinha ensinado a Pedro em suas duas aulas semanais nos últimos seis anos. Foram socos econômicos, não fizeram o ar assobiar, mas Beson sentiu como se tivesse levado em rápida sucessão três coices de um cavalinho bem pequeno com ferraduras muito grandes. Houve um lampejo de dor no lado esquerdo de seu rosto, quando o osso malar quebrou. Para Beson, foi como se um graveto lhe tivesse estalado dentro da cabeça. Novamente ele foi projetado de encontro à parede. Bateu nela como uma boneca de pano e ricocheteou de volta, com os joelhos bambos. Olhou para o príncipe com evidente desalento.
Os ajudantes que espiavam pelo buraco da porta se agitaram espantados. Beson apanhando de um menino? Era tão incrível como se caísse chuva do céu azul sem nuvens. Um deles olhou para a chave que tinha na mão, por um momento pensou em entrar, depois pensou melhor. Ali dentro um homem podia se machucar. Meteu a chave no bolso, onde mais tarde poderia alegar que a esquecera.
— Agora está disposto a conversar com educação? — Pedro nem mesmo alterara o ritmo da respiração. — Que bobagem. Eu lhe peço dois favores simples, favores pelos quais você pode contar ser bem e amplamente recompensado. E você...
Com um bramido, Beson atirou-se novamente contra Pedro. Desta vez, Pedro não esperava um ataque, mas mesmo assim conseguiu esquivar-se, à maneira de um toureiro que escapa de um touro que avança inesperadamente — o matador pode ser surpreendido, às vezes até ferido pelos chifres do animal, mas raramente perde a graça. Pedro não perdeu a sua, mas foi ferido. As unhas de Beson eram longas, imundas e denteadas — mais pareciam garras de um animal que unhas humanas — e ele gostava de contar aos ajudantes (em noites escuras de inverno, quando um conto de terror parecia apropriado) sobre a ocasião em que abrira de uma a outra orelha a goela de um prisioneiro com a unha do polegar.
Uma delas riscou um traço sangrento na face esquerda de Pedro quando Beson passou por ele bracejando. O corte abriu-se em ziguezague da têmpora à borda do maxilar, escapando por um triz de atingir o olho esquerdo de Pedro. A pele da bochecha pendeu como um trapo, e pelo resto da vida Pedro guardaria a cicatriz desse encontro com Beson.
Pedro enfureceu-se. Foi como se tudo o que lhe tinha acontecido nos últimos dez dias explodisse de repente em sua cabeça, e, por um momento, sua fúria chegou quase — não inteiramente, mas quase — a ponto de levá-lo a matar o animalesco chefe dos carcereiros, em vez de limitar-se a dar-lhe uma lição que ele nunca mais esqueceria.
Ao voltar-se, Beson foi sacudido por cruzados de esquerda e ganchos de direita. De ordinário, os ganchos não teriam causado muito dano, mas a massa de metal embutida no punho de Pedro transformou-os em torpedos. Os nós dos dedos racharam a mandíbula de Beson. Beson urrou de dor e mais uma vez tentou atracar-se com Pedro. Foi um erro. Com um rangido de mó, teve o nariz esmagado e o sangue escorreu-lhe pela boca e pelo queixo, gotejando na jaqueta imunda. Em seguida, um relâmpago de dor quando aquela pesada mão direita lhe achatou os beiços. Beson cuspiu um dente no chão e tentou girar para fugir. Não se lembrava mais de que os ajudantes a tudo assistiam, sem coragem para interferir. Beson esquecera a sua raiva ante a atitude do rapaz, perdera a sua vontade inicial de dar uma lição ao jovem príncipe.
Pela primeira vez em sua função de chefe dos carcereiros, esquecera tudo, menos uma ânsia cega de sobreviver. Pela primeira vez em sua função, Beson sentia medo.
E não era o fato de Pedro estar a cobri-lo de socos que o apavorava. Ele já levara grandes surras, ainda que nunca das mãos de um prisioneiro. Não, era a expressão dos olhos de Pedro que o terrificava. É o olhar de um rei. Que os deuses me protejam, é a face de um rei... sua fúria abrasa quase como o calor do sol.
Pedro encurralou Beson contra a parede, mediu a distância do seu queixo e armou o punho direito com o chumbo.
— Precisa de mais persuasão, fedorento? — interrogou ferozmente.
— Não, chega — Beson respondeu estonteado, através dos beiços que rapidamente inchavam. — Chega, meu rei, eu imploro a sua clemência, imploro a sua clemência.
— O quê? — perguntou Pedro, estupefato. — Como foi que me chamou?
Mas Beson foi escorregando lentamente pela parede de pedra. Ao chamar Pedro de meu rei, ele o fizera quando já ia perdendo os sentidos. Não iria lembrar-se de ter dito essas palavras, mas Pedro jamais as esqueceu.
BESON FICOU DESACORDADO por mais de duas horas. Não fosse a sua respiração pastosa e ressonante, Pedro teria receado ter matado realmente o chefe dos carcereiros. O homem era um canalha, boçal, perverso e desonesto... mas, apesar de tudo, Pedro não queria vê-lo morto. Os ajudantes revezavam-se ao postigo da porta de carvalho, espiando para dentro com olhos esbugalhados — olhos de meninos vendo o tigre carniceiro de Andua no jardim zoológico do rei. Nenhum fez qualquer menção de socorrer o seu superior, e pelas suas expressões Pedro percebeu que esperavam que de um momento para outro ele saltasse sobre o carcereiro desmaiado e lhe rasgasse a garganta. Possivelmente com os dentes.
E por que não haveriam de pensar assim?, perguntou Pedro a si mesmo amargamente. Eles pensam que matei meu próprio pai, e um homem capaz de praticar tal ato poderia rebaixar-se a qualquer vileza, inclusive matar um adversário inconsciente.
Finalmente Beson começou a gemer e a se mexer. Seu olho direito pestanejou e se abriu — o esquerdo ele não podia abrir, e durante alguns dias não pôde abri-lo completamente.
O olho direito fitou Pedro, não com ódio, mas com manifesto sobressalto.
— Está disposto a falar com bons modos? — perguntou Pedro.
Beson disse algo que Pedro não conseguiu entender. Soava como uma lamúria.
— Não entendi. Beson tentou de novo.
— Podia ter me matado.
— Eu nunca matei ninguém — disse Pedro. — Talvez chegue o dia em que seja preciso, mas se isso acontecer, espero não ter de começar com carcereiros desmaiados.
Beson sentou-se encostado à parede, olhando para Pedro com seu único olho aberto. Uma expressão de profunda reflexão, absurda e um pouco assustadora em suas feições inchadas e amarrotadas, tomou-lhe conta do semblante.
Finalmente, conseguiu articular outra frase lamuriosa. Esta Pedro pensou ter entendido, mas quis ter certeza.
— Por favor, repita, senhor carcereiro-chefe Beson.
Beson mostrou-se espantado. Assim como Yosef, antes de Pedro, nunca fora chamado de “lorde cavalariço-chefe”, Beson jamais fora chamado de “senhor carcereiro-chefe”.
— Podemos entrar em acordo — disse.
— Assim é que se fala.
Penosamente, Beson pôs-se de pé. Não queria ter mais nada a ver com Pedro, por ora pelo menos. Ele tinha outros problemas. Seus ajudantes tinham visto ele levar uma tremenda surra de um garoto que passara uma semana sem comer. Tinham ficado olhando — e mais nada, os poltrões de má sorte. Sua cabeça doía, e possivelmente ele teria ainda de punir os desgraçados a chicote antes de meter-se na cama.
Já ia saindo, quando Pedro o chamou.
Beson voltou-se. Essa volta era a única que faltava. Os dois sabiam agora quem mandava ali. Beson fora batido. O prisioneiro disse-lhe que esperasse, e ele esperou.
— Eu tenho algo para lhe dizer. Será bom para nós dois que eu diga. Beson não respondeu. Ficou parado, olhando para Pedro cautelosamente.
— Diga a eles — Pedro acenou com a cabeça em direção à porta — que fechem o postigo.
Beson encarou Pedro por alguns instantes; em seguida, voltou-se para os guardas que olhavam para ele e deu a ordem.
Os ajudantes, sempre com as caras espremidas, bochecha com bochecha, na abertura, continuaram olhando, sem entender as palavras engroladas de Beson... ou fingindo que não entendiam. Beson passou a língua nos dentes manchados de sangue e falou com mais clareza, com certo esforço evidente. Desta vez, fechou-se o postigo, aferrolhado por fora... mas não antes que Beson ouvisse as risadas de escárnio dos seus subordinados. Suspirou com desânimo — sim, eles teriam de levar uma boa escovadela antes que ele pudesse ir para casa. Mas covardes aprendem depressa. O príncipe, esse podia ser tudo; covarde, por certo, não era. Beson perguntou a si mesmo se queria entrar em acordo com Pedro.
— Quero entregar-lhe um bilhete que você levará a Anders Peyna — disse Pedro.
— Virá buscá-lo esta noite, espero.
Beson não disse nada, mas fazia um enorme esforço para raciocinar. De todos, este fora o lance mais absurdo. Peyna! Um bilhete para Peyna! Ele tinha hesitado um momento, quando Pedro lhe fizera recordar que era irmão do rei, mas aquilo nada fora, comparado a isto. Peyna, pelos deuses!
Quanto mais pensava, menos a idéia lhe agradava.
O rei Tomás talvez não desse muita importância a que seu irmão mais velho fosse maltratado no Obelisco. O irmão mais velho assassinara o pai deles, um ponto a considerar; a esta altura, Tomás provavelmente não alimentava um grande amor fraternal. E, mais importante, Beson pouco ou nada se deixava impressionar quando o nome de Tomás, o Portador da Luz, era invocado. Como quase todos em Delain, Beson já começara a ver Tomás com certo desprezo. Mas Peyna, agora... Com Peyna o caso era outro.
De um modo ou de outro, para os da laia de Beson, Anders Peyna era mais assustador que um regimento inteiro de reis em desfile. Um rei era um ser distante, brilhante e misterioso como o sol. Não importa se o sol se esconde atrás das nuvens e enregela os aqui de baixo, ou se desponta quente e branco para cozê-los vivos — de um modo ou de outro, o que se pode fazer é aceitar, porque o que o sol faz está muito além do poder das criaturas mortais compreenderem ou mudarem.
Peyna era um ser mais terreno. Um ser do tipo que Beson podia entender... e temer. Peyna com sua cara afilada e seus olhos azuis de gelo, Peyna com sua toga e sua gola alta de juiz, Peyna que decidia quem ficaria vivo e quem deitaria a cabeça na guilhotina do carrasco.
Poderia o menino real, da sua cela no topo do Obelisco, dar ordens a Peyna? Ou seria apenas um desesperado blefe?
Como pode ser um blefe, se ele pretende escrever um bilhete que eu mesmo devo entregar?
— Se eu fosse rei, Peyna me serviria do modo que eu lhe ditasse — afirmou Pedro.
— Hoje eu não sou rei, apenas um prisioneiro. No entanto, não faz muito tempo eu lhe prestei um favor pelo qual acredito que esteja muito grato.
— Sei — respondeu Beson, num tom em que tanto quanto possível procurava não se comprometer.
Pedro suspirou. De repente sentia-se muito cansado, e perguntava a si mesmo que sonho insensato estava perseguindo. Estava realmente convencido de estar dando os primeiros passos na rota da liberdade ao espancar aquele carcereiro bronco e dobrá-lo à sua vontade? Tinha alguma garantia positiva de que Peyna faria por ele alguma coisa, por menor que fosse? Talvez o conceito de favor devido estivesse apenas na imaginação de Pedro.
Mas devia tentar. Não resolvera ele, em suas longas noites solitárias de meditação, enquanto sofria pelo pai e por si mesmo, que o único pecado seria não tentar?
— Peyna não é meu amigo — Pedro continuou. — Não vou nem tentar fazê-lo crer que seja. Eu fui condenado pela morte de meu pai, o rei, e não penso que me reste um único amigo em todo o reino de Delain, de norte a sul. Não lhe parece, senhor carcereiro-chefe?
— Sim — respondeu Beson, impassível. — Parece.
— Não obstante, acredito que Peyna não se negará a provê-lo da propina que você costumeiramente recebe dos seus hóspedes.
Beson assentiu com a cabeça. Quando um nobre era encarcerado no Obelisco por um período qualquer, Beson normalmente cuidava que o prisioneiro recebesse uma alimentação melhor do que carne gordurosa e cerveja aguada, lençóis limpos uma vez por semana e, às vezes, uma visita de uma esposa ou namorada. Não fazia isso de graça, é claro. Nobres sentenciados eram geralmente de famílias ricas, e sempre alguém da família prestava-se a pagar pelos serviços de Beson, fosse qual fosse o crime cometido.
No presente caso, tratava-se de um crime de natureza excepcionalmente execrável, e ali estava o rapaz afirmando que ninguém menos que Anders Peyna estaria disposto a pagar o suborno.
— Mais uma coisa — disse Pedro suavemente. — Eu acredito que Peyna o fará porque é um homem honrado. E se algo viesse a acontecer-me, se você e alguns dos seus ajudantes entrassem aqui de noite e me espancassem para vingar a surra que eu lhe dei, por exemplo, acredito que Peyna se interessaria pelo assunto.
Pedro fez uma pausa.
— Se interessaria pessoalmente pelo assunto. Fitou Beson nos olhos.
— Entendeu?
— Sim... — disse Beson, depois acrescentando: — ...senhor.
— Vai trazer pena, tinteiro, mata-borrão e papel?
— Vou.
— Venha cá.
Hesitando um pouco, Beson aproximou-se.
O fedor do chefe dos carcereiros era tremendo, mas Pedro não recuou — o fedor da acusação que pesava sobre ele o tinha quase imunizado contra o cheiro de suor e imundície, ele descobriu. Olhou para Beson com a sombra de um sorriso.
— Fale no meu ouvido — disse Pedro. Beson piscou, pouco à vontade.
— Falar o quê, senhor?
— Um número — disse Pedro. Depois de um momento, Beson falou.
UM AJUDANTE DO CARCEREIRO trouxe para Pedro os utensílios de escrita pedidos. Lançou a Pedro um olhar arisco de gato vadio que já levou muitos pontapés e tratou de sair, antes que recebesse uma sobra da fúria que se descarregara na cabeça de seu chefe.
Pedro sentou-se à mesa desconjuntada junto à janela, lançando nuvens de vapor por conta do frio intenso. Ouvia o lamento incessante do vento ao redor da ponta do Obelisco e via abaixo dele as luzes da cidade.
Prezado Magistrado-geral Peyna, escreveu e parou.
Será que ao ver quem assina a mensagem ele vai amarrotá-la em sua mão e atirá-la ao fogo sem ler? Será que vai lê-la e rir-se desdenhosamente do insensato que matou o próprio pai e, depois, teve a audácia de esperar auxílio do magistrado-geral do reino? Será, quem sabe, que vai divisar o plano e entender aonde eu quero chegar?
Nessa noite o estado de ânimo de Pedro estava mais otimista, e ele imaginou que a resposta a todas as três perguntas seria negativa. Era possível que seu plano viesse a fracassar, mas era pouco provável que fosse adivinhado por um homem tão metódico e formal como era Peyna. Era mais fácil o magistrado-geral imaginar-se a vestir um saiote e dançar na Praça do Obelisco em noite de lua cheia do que decifrar a intenção de Pedro. E o que eu peço é tão pouco, pensou Pedro. O fantasma de um sorriso roçou-lhe outra vez os lábios. Pelo menos espero e acredito que irá parecer assim... a ele.
Debruçando-se à mesa, molhou a pena de ganso no tinteiro e começou a escrever.
NA NOITE SEGUINTE, pouco depois do toque das nove horas, o mordomo de Anders Peyna atendeu a uma batida insolitamente tardia e olhou ao longo do seu comprido nariz para a figura do chefe dos carcereiros parada na soleira. Arlen — era o nome do mordomo — já tinha visto Beson antes, é claro: como o patrão de Arlen, Beson era parte do aparelho judicial do reino. Mas Arlen não o reconheceu. A surra que Pedro aplicara em Beson tivera um dia para fixar as suas marcas, e a cara dele era um poente de vermelhos, roxos e amarelos. O olho esquerdo abrira um pouco, mas ainda era algo mais que uma fenda. Ele parecia um anão vampiro, e o mordomo quase que de imediato fez menção de bater com a porta.
— Espere — disse Beson num grunhido brusco que fez o mordomo vacilar. — Eu trago uma mensagem para o seu patrão.
O mordomo hesitou um momento e, em seguida, começou novamente a fechar a porta. A cara inchada e mal-humorada do homem metia medo. Não seria de fato um anão, vindo do país do norte? Supostamente a última daquelas tribos selvagens, vestidas de peles, as quais ou tinham se extinguido ou sido exterminadas na época de seu avô, mas ainda assim... nunca se sabe...
— É do príncipe Pedro — disse Beson. — Se você fechar essa porta, ou muito me engano, ou você vai ouvir do seu patrão mais tarde uma boa descompostura.
Arlen hesitou de novo, dividido entre barrar a entrada do vampiro e o poder que o nome do príncipe Pedro ainda conservava. Se o homem vinha da parte de Pedro, devia ser o chefe dos carcereiros do Obelisco. No entanto...
— Não se parece com Beson — comentou.
— E você, Arlen, não se parece com seu pai, e isso mais de uma vez me fez pensar por onde teria andado sua mãe — replicou rudemente o mal-educado vampiro, e enfiou um envelope manchado pela fresta ainda aberta da porta. — Aqui está... leva-a para ele. Eu espero. Feche a porta se quiser, se bem que aqui fora esteja um frio dos diabos.
A Arlen pouco se lhe dava que estivesse fazendo 20 graus abaixo de zero. Não queria saber daquele monstro esquentando os pés em frente ao fogo da cozinha dos criados. Apanhou o envelope, fechou a porta, trancou-a, começou a afastar-se... voltou e deu outra volta na chave.
PEYNA ESTAVA EM SEU gabinete, olhando o fogo e revolvendo longos pensamentos. Quando Tomás fora coroado, a lua estava nova; ainda não estava no quarto crescente e já não lhe agradava o modo em que andavam as coisas. Flagg — era o que havia de pior. Flagg. O bruxo já exercia mais poder que nos dias do reinado de Rolando, que pelo menos fora um homem maduro em anos, por mais lento que fosse o seu juízo. Tomás não passava de um menino, e Peyna temia que em breve Flagg viesse a controlar todo o reino de Delain em nome de Tomás. Seria mau para o reino... e mau para Anders Peyna, que nunca escondera sua aversão por Flagg.
Era agradável estar no gabinete, ao pé do fogo crepitante, mas Peyna, mesmo assim, tinha a impressão de um vento frio nos tornozelos. Era um vento que poderia aumentar e soprar para longe... tudo.
Por que, Pedro? Por que, por quê? Por que não pôde esperar? E como pôde ser tão perfeito por fora, qual maçã rosada no outono, estando tão corrupto por baixo da casca? Por quê?
Peyna não sabia... e não confessaria a si próprio, mesmo agora, que uma dúvida quanto à corrupção de Pedro começava a assaltar-lhe o coração.
Bateram à porta.
Peyna pôs-se de pé, olhou em volta e gritou impaciente:
— Entre! E tomara que você tenha bons motivos!
Arlen entrou, com ar contrafeito e confuso. Trazia na mão um envelope.
— Sim?
— Senhor... está um homem à porta... pelo menos parece ser um homem... isto é, tem a cara horrivelmente inchada e deformada, como se houvesse levado uma tremenda surra... ou... — a voz de Arlen se extinguiu.
— E o que tenho eu a ver com isso? Sabe que não recebo a esta hora. Mande-o embora. Diga-lhe que vá para o diabo!
— Ele diz que é Beson, senhor — disse Arlen, cada vez mais desconcertado. Levantou o envelope enxovalhado como se para usá-lo como escudo. — Trouxe isto. Diz que é da parte do príncipe Pedro.
O coração de Peyna teve um sobressalto, mas ele limitou-se a fitar Arlen com um olhar ainda mais carregado.
— E é?
— Do príncipe Pedro? — Arlen estava quase balbuciando. Perdera por completo a sua impassibilidade habitual, e Peyna achou o fato interessante. Nunca imaginara que
Arlen pudesse perder a compostura, houvesse incêndio, inundação ou uma invasão de uma horda de dragões. — Senhor, não me seria possível saber... Isto é, eu... eu...
— É Beson, idiota?
Arlen passou a língua nos lábios — imaginem, passou a língua nos lábios. Isso era de todo inaudito.
— Bem, pode ser que seja, senhor... Parece-se um pouco com ele... mas esse sujeito lá na porta está terrivelmente contundido e deformado... Eu... — Arlen engoliu em seco. — A mim mais pareceu um anão — disse, enunciando o pior e depois tentando amenizá-lo com um sorriso truncado.
É Beson mesmo, pensou Peyna. É Beson, e se parece ter sido surrado é porque Pedro ministrou a surra. Foi por isso que trouxe a mensagem. Porque Pedro lhe bateu e ele teve medo de desobedecer. Só uma surra convence indivíduos dessa laia.
No íntimo de Peyna, houve um súbito raiar de exultação: ele sentiu-se como alguém numa caverna escura que de repente vê uma luz brilhar.
— Dê-me a carta — disse.
Arlen obedeceu. Em seguida fez menção de escapulir-se, e também isso era algo novo, porque Arlen nunca apressava o passo. Pelo menos, pensou Peyna, com a precisão jurídica de sempre, nunca me constou que ele apressasse o passo.
Deixou que Arlen alcançasse a porta, como um pescador experiente que dá linha a um peixe fisgado, e depois o deteve bruscamente.
— Arlen.
Arlen voltou. Parecia tenso, como se esperasse ouvir uma descompostura.
— Não existem mais anões. Sua mãe não lhe contou?
— Sim, senhor — disse Arlen, relutante.
— Fez muito bem. Uma mulher de juízo. As bobagens que você tem na cabeça devem ter vindo do seu pai. Mande entrar o chefe dos carcereiros. Para a cozinha dos criados — acrescentou depressa. — Não quero que ele entre aqui. Ele cheira mal. Mas deixe que ele entre na cozinha dos criados para se aquecer. A noite está fria.
Desde a morte de Rolando, Peyna refletiu, todas as noites tinham sido frias, como se para lembrar o modo como o velho rei tinha queimado, de dentro para fora.
— Sim, senhor — disse Arlen com manifesta relutância.
— Daqui a pouco eu chamo você e digo o que fazer com ele. Arlen saiu humilhado e fechou a porta atrás de si.
Peyna revirou nas mãos várias vezes o envelope sem abri-lo. A sujeira provinha certamente dos dedos sebosos de Beson. Quase chegava a sentir no envelope o mau cheiro do suor do vilão. O envelope estava lacrado com um pingo de cera de vela comum.
Ele pensou: O melhor seria, quem sabe, atirar isto sumariamente ao fogo, e não pensar mais no assunto. É, atirar ao fogo, chamar Arlen e mandá-lo servir um trago ao corcunda... pensando bem, aquele chefe dos carcereiros até que parece mesmo um anão... e despachá-lo. É, é isso que eu devo fazer.
Mas sabia que não o faria. Um pressentimento absurdo — um pressentimento de que aquilo seria talvez um raio de luz na treva sem saída — não o abandonava. Introduziu o polegar sob a aba do envelope, rompeu o selo, retirou uma carta curta e a leu à luz do fogo.
PEYNA.
eu decidi viver.
Eu tinha lido algo a respeito do Obelisco antes de ir dar eu mesmo no lugar, e também tinha ouvido algo mais, que na maior parte eram balelas. Algo que ouvi foi que certos favores podiam ser comprados. Isso parece ser verdade. É claro, eu não tenho nenhum dinheiro, mas me ocorre que talvez você pudesse acudir-me nesta espécie de despesa. Não faz muito que eu prestei um favor a você e se concordasse em pagar ao chefe dos carcereiros a soma de oito florins — pagamento esse a ser renovado à entrada de cada ano que eu passar neste lugar de miséria —, eu consideraria o meu favor retribuído. A quantia, como você pode ver, é bem pequena. Isso porque são apenas duas as coisas que pretendo. Se você se dispuser a “molhar a mão” de Beson para que eu as obtenha, não voltarei a incomodá-lo.
Bem sei que você teria sua posição comprometida, caso transpirasse o fato de me ter ajudado, mesmo em assunto de pequena monta. Sugiro que faça do meu amigo Ben o seu intermediário. Caso haja por bem atender ao meu pedido. Desde a minha prisão, não tive contato com Ben, mas espero e acredito que ele me continue fiel. Eu teria preferido dirigir a ele o meu pedido, mas os Staad não andam bem de vida, e Ben não tem dinheiro próprio. Constrange-me pedir dinheiro a quem quer que seja, entretanto não existe mais ninguém a quem possa recorrer. Se você achar que não é possível fazer o que lhe peço, eu compreenderei.
Eu não matei meu pai.
Pedro.
POR ALGUM TEMPO Peyna demorou-se a contemplar aquela carta surpreendente. Seus olhos voltavam sem cessar à primeira e à última linhas.
Eu decidi viver.
Eu não matei meu pai.
Não era motivo de espanto que o rapaz continuasse a protestar — Peyna tinha conhecido criminosos que por anos a fio tinham jurado inocência de crimes dos quais indubitavelmente eram culpados. Mas não era próprio de um culpado ser tão incisivo em sua defesa. Tão... imperioso.
Sim, era o que mais o confundia na carta — o seu tom de comando. Um verdadeiro rei, pensou Peyna, não se modifica pelo exílio; nem pela prisão; nem mesmo pela tortura. Um verdadeiro rei não perde tempo com explicações ou justificativas. Simplesmente declara a sua vontade.
Eu decidi viver.
Peyna suspirou. Depois de um longo intervalo, puxou para si o tinteiro, tirou da gaveta uma folha de fino pergaminho e escreveu. Sua mensagem foi ainda mais breve que a de Pedro. Não levou cinco minutos para escrevê-la, secá-la, dobrá-la e lacrá-la. Feito isso, tocou a sineta para chamar Arlen.
Arlen, apresentou-se quase imediatamente.
— Beson ainda está aí? — perguntou Peyna.
— Creio que sim, senhor — respondeu Arlen.
Na verdade sabia que Beson continuava presente, porque tinha estado a espiar o homem pelo buraco da fechadura, vendo-o andar sem descanso para lá e para cá, de um a outro extremo da cozinha dos criados, empunhando uma coxa de galinha fria como se fosse uma clava. Depois de limpar o osso, Beson o tinha quebrado com os dentes — produzindo um horrível som de esmagamento — e sugado com gosto o tutano.
Arlen não estava ainda inteiramente convencido de que o homem não fosse um anão... ou talvez mesmo um ogro.
— Entregue-lhe isto — disse Peyna estendendo a Arlen o bilhete — e isto pelo seu trabalho. — Dois florins tilintaram na outra mão de Arlen. — Diga-lhe que pode haver resposta. Neste caso, que a traga à noite.
— Sim, senhor.
— E não se distraia a prosear com ele — ordenou Peyna.
Era o mais perto de um gracejo a que ele era capaz de chegar.
— Não, senhor — disse Arlen, taciturno, e saiu.
Ainda pensava nos ruídos produzidos por Beson ao trincar o osso de galinha.
— TOME — DISSE BESON asperamente ao entrar na cela de Pedro no dia seguinte, estendendo-lhe o envelope. Motivos não lhe faltavam para estar mal-humorado. Os dois florins que Arlen lhe passara tinham sido um provento inesperado, e ele passara a maior parte da noite a bebê-lo. Dois florins compravam uma grande quantidade de hidromel, e ele sentia a cabeça pesada e fortemente dolorida. — Estou virando um maldito moleque de recados.
— Obrigado — disse Pedro, segurando o envelope.
— E aí? Não vai abrir?
— Vou. Quando você sair.
Beson mostrou os dentes e cerrou os punhos. Pedro simplesmente permaneceu quieto, olhando para ele. Depois de um momento, Beson baixou os punhos.
— Um maldito moleque de recados, é isso! — repetiu, e saiu, batendo a porta com força.
Ouviu-se o ranger de fechaduras de ferro girando, seguido do som de ferrolhos — três, cada qual da grossura do pulso de Pedro — que deslizavam.
Quando os ruídos pararam, Pedro abriu o bilhete. Continha apenas três frases.
Estou a par da prática habitual de que fala. A soma que menciona pode ser arranjada. Eu o farei, mas não antes de saber que favores pretende comprar do nosso amigo comum.
Pedro sorriu. O magistrado-geral não era um homem astuto — não havia astúcia na sua natureza como havia na de Flagg —, mas era extremamente cauteloso. O bilhete era uma prova disso. Pedro tinha previsto a condição de Peyna. Teria desconfiado se Peyna não perguntasse o que ele pretendia. Ben seria o intermediário, muito em breve Peyna deixaria de ser parte ativa no suborno, mas, mesmo assim, se comportava com cuidado, como um homem caminhando sobre pedras soltas que a qualquer momento podem deslizar debaixo de seus pés.
Pedro foi até a porta da cela, bateu, e, depois de negociar com Beson, recebeu novamente o tinteiro e a pena de ganso suja. Beson voltou a resmungar que não era mais que um maldito moleque de recados, mas na verdade a situação não o desgostava. Talvez aquilo lhe rendesse outros dois florins.
— Se esses dois dão de escrever para lá e para cá bastante tempo, acho que posso acabar ficando rico — disse ele para ninguém e soltou uma gargalhada, apesar da dor de cabeça.
PEYNA ABRIU O SEGUNDO bilhete de Pedro e viu que desta vez o príncipe omitira os nomes de ambos. Bem pensado. O rapaz aprendia depressa. Ao ler o bilhete, ergueu as sobrancelhas.
A sua exigência de tomar conhecimento da minha transação será talvez impertinente, talvez não. Não vem muito ao caso, já que estou à sua mercê. São estas as duas coisas que os seus oito florins por ano deverão comprar:
Quero ter comigo a casa de boneca de minha mãe. Ela sempre me levou a lugares agradáveis e a gratas aventuras, e em criança eu gostava muito dela.
Gostaria que com as refeições me fosse trazido um guardanapo — um guardanapo real exclusivo. O brasão pode ser removido, se você assim preferir.
São estes os meus pedidos.
Peyna leu e releu o bilhete antes de atirá-lo ao fogo. Sentia-se perturbado porque não o compreendia. O rapaz teria algo em mente... ou não? O que poderia querer com a casa de boneca da mãe? Pelo que Peyna sabia, ela continuava guardada em alguma parte do castelo, acumulando poeira debaixo de um lençol, e não havia razão para não entregá-la a Pedro — isto é, depois que alguém de confiança fosse incumbido de examiná-la minuciosamente para assegurar-se de que quaisquer objetos cortantes ou perfurantes — faquinhas e coisas tais — fossem retirados. Ele se lembrava bem do quanto Pedro, em pequeno, se encantara com a casa de boneca de Sacha. Lembrava-se também — vagamente, muito vagamente — de que Flagg apontara a inconveniência de um menino que um dia seria rei brincar com bonecas. Na ocasião, Rolando se opusera ao conselho de Flagg... sensatamente, pensou Peyna, pois no devido tempo Pedro abrira mão da casa de boneca.
Até agora.
Será que ele enlouqueceu?
Peyna achou que não.
Quanto aos guardanapos... isso podia entender. Pedro sempre insistira em ter um guardanapo às refeições, sempre os estendia caprichosamente no colo como se fosse uma pequena toalha de mesa. Mesmo em excursões campestres com o pai, Pedro exigia um guardanapo. Estranho que Pedro não pedisse uma alimentação melhor que as péssimas rações normais da prisão, como logo teria feito qualquer outro prisioneiro nobre ou régio. Não, em vez disso, pediu um guardanapo.
Essa insistência em ser sempre asseado... em ter sempre um guardanapo... isso foi obra da mãe. Tenho certeza. Será que de algum modo as duas coisas se juntam? Mas como? Guardanapos... e a casa de boneca de Sacha. O que pode significar?
Peyna não sabia, mas aquele absurdo sentimento de esperança não o abandonava. Não lhe saía da cabeça que Flagg se opusera a que Pedro em menino ficasse com a casa de boneca. Agora, anos mais tarde, Pedro a queria de novo.
Havia um outro pensamento encerrado dentro desse, tão perfeitamente como recheio dentro de um pastel. Era um pensamento que Peyna mal ousava alimentar. Se — apenas se — Pedro não tivesse assassinado o pai, quem mais podia tê-lo feito? Ora, a pessoa que originalmente possuíra o terrível veneno, é claro. Uma pessoa que não seria nada no reino, se Pedro tivesse sucedido o pai... uma pessoa que era quase tudo, agora que Tomás ocupava o trono no lugar de Pedro.
Flagg.
Mas esse pensamento causava repugnância a Peyna. O importante era que de algum modo a justiça falhara, e isso era ruim. E revelava também que a simples lógica de que ele sempre se orgulhara fora posta de lado diante da reação que o dominara, quando viu as lágrimas de Pedro, e esta idéia — a idéia de que tinha tomado a decisão mais importante de toda a sua carreira com base na emoção e não em fatos — era muito pior.
Que mal pode haver em que ele receba a casa de boneca, desde que os objetos perigosos sejam removidos?
Peyna puxou para si os materiais de escrita e redigiu uma mensagem curta. Beson recebeu mais dois florins para beber — já lhe haviam pago metade da soma que ele iria receber anualmente pelos pequenos favores prestados ao príncipe. Torceu para que houvesse mais correspondências, mas não houve mais nenhuma.
Pedro já tinha o que queria.
EM CRIANÇA, Ben Staad fora um garotinho esbelto, de olhos azuis e cabelos louros encaracolados. Com nove anos de idade já provocava entre as meninas suspiros e risadinhas.
— Isso não vai durar — dizia o pai de Ben. — Todos os Staad são bem bonitos em menino, mas quando ele crescer vai ser como todos nós: o cabelo dele vai escurecer e ficar pardo, ele vai andar franzindo a cara para poder enxergar, e vai ter a sorte de um porco cevado no matadouro do rei.
Mas as duas primeiras predições não se confirmaram. Ben foi o primeiro Staad do sexo masculino em várias gerações a continuar tão louro aos 17 anos como fora aos sete, e capaz de distinguir um falcão pardo de um falcão-peregrino a mais de 300 metros. Longe de sofrer de miopia, tinha os olhos espantosamente aguçados... e agora, aos 17 anos, ainda provocava nas garotas risadinhas e suspiros como quando tinha nove.
Quanto à sorte... bem, essa era outra questão. Que a maioria dos Staad homens fora infeliz, pelo menos nos últimos 200 anos, era notório. A família de Ben passou a achar que ele poderia vir a ser o redentor da sua pobreza patrícia. Afinal, seu cabelo não tinha escurecido e seus olhos não se tinham minguado; por que não haveria ele de escapar também à maldição do azar? De mais a mais, o príncipe Pedro era seu amigo, e algum dia Pedro seria rei.
E eis que Pedro foi julgado e condenado como assassino do pai. Já se encontrava no Obelisco, antes que qualquer dos abismados membros da família Staad entendesse bem o que tinha acontecido.
André, o pai de Ben, assistiu à coroação de Tomás e chegou a casa com uma equimose na face — equimose que sua mulher achou melhor não comentar.
— Eu tenho certeza que Pedro é inocente — disse Ben à noite, à mesa do jantar. — Simplesmente me recuso a acreditar...
No momento seguinte, estava estatelado no assoalho, o ouvido retinindo, o pai crescendo em cima dele, a cara, de tão rubra, quase púrpura, e a irmãzinha de colo de Ben, Emmaline, chorando em sua cadeirinha alta.
— Nunca mais pronuncie o nome do patifezinho sanguinário nesta casa — disse o pai.
— André — interveio a mãe. — André, ele não entende...
O pai, de costume o mais afável dos homens, voltou a cabeça e encarou a mãe de Ben.
— Cale-se, mulher — disse, e algo no seu tom de voz a fez sentar. Até Emmaline parou de chorar.
— Pai — disse Ben em voz baixa —, eu nem me lembro da última vez que você me bateu. Faz dez anos, eu acho, talvez mais. E acho que, até hoje, você nunca me bateu com raiva. Mas isso não me faz mudar de idéia. Eu não acredito...
André Staad levantou um dedo em sinal de advertência.
— Eu já disse que não quero ouvir o nome dele, e falei sério, Ben. Eu te amo, mas se você voltar a falar o nome dele, terá de deixar esta casa.
— Não falarei — respondeu Ben, pondo-se de pé —, mas porque te amo, pai. Não porque tenha medo de você.
— Parem! — exclamou a sra. Staad, ainda mais apavorada. — Não quero ver os dois brigando desse modo! Querem me deixar louca?
— Não, mãe, não fique preocupada, já passou — disse Ben. — Não é, pai?
— Já passou — disse o pai. — Você é um bom filho em tudo, Ben, e sempre foi, mas não fale nele.
Havia coisas que André Staad achava não poder dizer ao filho — com seus 17 anos, para o pai Ben era ainda um menino. Teria sido uma surpresa para André saber que Ben compreendia perfeitamente os motivos da proibição.
Antes da infeliz reviravolta que já é do conhecimento de vocês, a amizade de Ben com o príncipe já começara a mudar a situação para os Staad. Fora outrora muito grande a propriedade da família nos Baronatos Centrais. No correr dos últimos 100 anos, porém, seus membros tinham-se visto forçados a ir vendendo as terras, uma fração de cada vez. Até que finalmente restavam-lhe menos de 60 riles, a maior parte hipotecada.
Mas, nos últimos dez anos mais ou menos, aos poucos a situação tinha melhorado. Banqueiros antes ameaçadores tinham-se prontificado a prorrogar as hipotecas vencidas, e até a oferecer novos empréstimos a juros incrivelmente baixos. André Staad tinha sofrido amargamente ao ver a terra de seus ancestrais desmembrada pedaço por pedaço, e para ele foi um dia venturoso quando pôde ir até Halvay, um fazendeiro vizinho, e dizer-lhe que tinha mudado de idéia com respeito à venda de três riles que por nove anos Halvay insistira em querer comprar. E ele sabia a quem devia agradecer por essas benditas mudanças. Ao filho... ao filho, amigo do peito do príncipe que por acaso era também o herdeiro do trono.
Agora voltavam a ser simplesmente os azarados Staad. Se fosse só isso, se apenas se tratasse de tudo voltar a ser como era antes, ele poderia ter-se conformado sem bater no filho à mesa do jantar... um ato de que já se envergonhava. Mas as coisas não iam voltar ao que eram. A situação agora era pior.
Quando os banqueiros, em vez de portar-se como lobos, passaram a ser como cordeiros, ele se animara. Tomara emprestada uma grande quantia, parte para recomprar terras que já vendera, parte para construir benfeitorias, como um novo moinho de vento. Agora, ele estava certo, os banqueiros despiriam suas peles de cordeiro, e em vez de perder a herdade pouco a pouco, ele estava sujeito a perdê-la toda de uma vez.
E ainda não era tudo. Um vago instinto o tinha aconselhado a proibir que qualquer dos seus familiares fosse à coroação de Tomás, e ele obedecera àquela voz interior. Agora, felicitava-se por isso.
Acontecera depois da coroação, e ele disse a si mesmo que era de esperar que acontecesse. Entrara numa taverna para tomar um copo antes de voltar para casa. Estava muito deprimido por todo aquele infausto negócio do assassinato do rei e da prisão de Pedro, sentia necessidade de um gole. Foi reconhecido como o pai de Ben.
— Seu filho ajudou o amigo a fazer a coisa, Staad? — perguntou um dos beberrões, e houve uma gargalhada maldosa.
— Ele segurou o velho enquanto o príncipe lhe despejava o veneno goela abaixo? — esganiçou um outro.
André pousou o caneco vazio pela metade. Não era um bom lugar para estar. O melhor era ir embora. E depressa.
Mas, antes que pudesse sair, um terceiro bêbado — um gigante que cheirava como um monte de repolhos podres — puxou-o para trás.
— E você, o que sabia da história? — perguntou o grandalhão numa voz trovejante.
— Nada — respondeu André. — Não sei nada dessa história, nem o meu filho sabe. Deixe-me passar.
— Vai passar quando, e se, resolvermos permitir que passe — disse o gigante, e atirou-o com um empurrão nos braços dos outros bebedores que esperavam. E começou a zombaria. André Staad foi empurrado de um para outro, ora estapeado, ora acotovelado, ora pisado. Nenhum chegou ao atrevimento de esmurrá-lo, mas andaram perto disso; ele vira em seus olhos o quanto o bando estava tentado. Tivesse sido mais tarde e estivessem eles mais embriagados, poderia ter ficado em sérios apuros.
André não era alto, mas tinha ombros largos e braços musculosos. Calculou que poderia derrotar de uma vez dois daqueles vagabundos numa luta limpa — com exceção do gigante, e pensou que até naquele camarada era capaz de dar uma lição. Um ou dois, até três talvez... mas eram ao todo uns oito ou dez. Fosse ele da idade de Ben, cheio de fogo e de brio, ainda poderia tê-los enfrentado. Mas estava com 45 anos, e não o seduzia a idéia de chegar a casa se arrastando, quase morto de pancadas. Doeria nele e assustaria a família, e as duas coisas de nada valeriam — era simplesmente o infortúnio dos Staad que voltava, agora redobrado, e só restava conformar-se. O taverneiro a tudo assistia sem nada fazer, sem tentar acabar com aquilo.
Enfim, deixaram-no escapar.
Agora ele receava pela esposa... pela filha... e principalmente pelo filho Ben, que seria o alvo principal de valentões como aqueles. Se tivesse sido Ben no meu lugar, pensou, teriam usado os punhos, sem dúvida. Teriam usado os punhos e batido nele até deixá-lo sem sentidos... ou pior.
Por isso, porque amava o filho e receava por ele, tinha-lhe batido e ameaçado expulsá-lo de casa se Ben alguma vez voltasse a mencionar o nome do príncipe prisioneiro.
As pessoas às vezes são engraçadas.
O QUE NÃO CHEGARA a entender de maneira abstrata sobre a nova e insólita situação, Ben descobriu muito concretamente no dia seguinte.
Levara seis vacas ao mercado e as vendera por um bom preço (a um criador que não o conhecia, ou provavelmente o preço não teria sido tão bom). Caminhava em direção aos portões da cidade, quando um bando de vadios o abordou, chamando-o de assassino, cúmplice e outros nomes menos agradáveis.
Ben não se saiu mal diante deles. No final surraram-no bastante — eram sete —, mas pagaram pelo feito com narizes sangrentos, olhos roxos e dentes perdidos. Ben levantou-se do chão sem muito esforço e foi para casa, chegando depois do escurecer. Tinha o corpo todo dolorido, mas, no fim das contas, sentia-se bastante satisfeito consigo mesmo.
Com um único olhar, o pai soube exatamente o que tinha acontecido.
— Diga à sua mãe que você caiu — disse ele.
— Está bem, pai — retrucou Ben, sabendo que a mãe não ia engolir a história.
— E depois disso, serei eu a levar para o mercado as vacas, ou o milho, ou o que quer que tenha de ser levado ao mercado... pelo menos até que venham os banqueiros e nos ponham para fora.
— Não, pai — disse Ben, tão calmamente como dissera está bem. Para quem levara uma boa surra, estava numa disposição de espírito bastante estranha... na verdade, quase alegre.
— Como assim, não? — perguntou o pai estupefato.
— Se eu fugir ou me esconder, eles virão atrás de mim. Se me defender, logo eles se cansarão e tratarão de procurar um passatempo mais fácil.
— Se alguém tirar uma faca da bota — disse André, dando voz ao seu maior receio —, você não vai viver para vê-los cansados, Ben.
Ben abraçou o pai e apertou-o com força.
— O homem não pode iludir os deuses — disse, citando um dos provérbios mais antigos de Delain. — Sabe disso, pai. E eu vou lutar por P... por aquele que você não quer que eu nomeie.
O pai fitou-o com tristeza e disse:
— Nunca vai acreditar na culpa dele, não é?
— Não — disse Ben, inabalável. — Nunca.
— Acho que você virou um homem, enquanto eu não estava olhando — disse o pai. — É um triste modo de tornar-se homem, brigando nas ruas do mercado com arruaceiros de sarjeta. E são tristes tempos estes que vive Delain.
— É — comentou Ben. — São tempos tristes.
— Que os deuses o ajudem — observou André —, e que ajudem esta família sem sorte.
TOMÁS FORA COROADO próximo do fim de um longo e rigoroso inverno. No 15º dia do seu reinado, a última das grandes tempestades da estação se abateu sobre Delain. A neve caiu densa e abundante, e muito depois do escurecer, o vento continuou a uivar, formando verdadeiras dunas.
Às nove horas dessa noite hostil, uma hora em que ninguém em seu juízo deveria andar ao desabrigo, um punho pôs-se a golpear a porta da frente da casa dos Staad. Não era leve nem tímido esse punho; martelava rapidamente e com energia as grossas tábuas de carvalho. Atendam-me e depressa, dava a entender. Eu não tenho a noite toda.
André e Ben, sentados junto à lareira, liam. Suzana Staad, mulher de André e mãe de Ben, sentada entre os dois, trabalhava num bordado onde, depois de pronto, se leria os deuses abençoem nosso rei. Emmaline havia muito fora levada para a cama. Ouvindo as batidas, os três levantaram os olhos para a porta, em seguida trocaram olhares entre si. Nos olhos de Ben só havia curiosidade, mas André e Suzana experimentaram um instantâneo e instintivo temor.
André levantou-se e guardou os óculos de leitura no bolso.
— Pai? — perguntou Ben.
— Vou eu — disse André.
Oxalá seja apenas um viajante, perdido no escuro e procurando abrigo, pensou, mas abrindo a porta viu um soldado do rei de pé na varanda, corpulento e inexpressivo. Um capacete de couro — o capacete de combate — forrava-lhe a cabeça. No cinto uma espada curta, bem à mão.
— Seu filho — disse ele, e André sentiu que lhe amoleciam os joelhos.
— Que quer com ele?
— Da parte de Peyna — disse o soldado, e André compreendeu que seria a sua única resposta.
— Pai? — perguntou Ben atrás dele.
Não, pensou André angustiado, por favor, isto é desgraça demais, meu filho não, meu filho não...
— É esse o rapaz?
Antes que André pudesse dizer não — por inútil que teria sido —, Ben se adiantara.
— Eu sou Ben Staad — disse ele. — O que quer comigo?
— Tem de me acompanhar — declarou o soldado.
— Aonde?
— À casa de Anders Peyna.
— Não!— gritou a mãe da porta da pequena sala de visitas. — Não, é tarde, está frio e os caminhos estão cobertos de neve...
— Estou com um trenó — argumentou o soldado firmemente, e André viu a mão do homem descer para o punho da espada.
— Eu vou — disse Ben, apanhando o capote.
— Ben... — começou André, pensando: Nós nunca mais o veremos, ele nos vai ser tirado porque conhecia o príncipe.
— Nada vai me acontecer, pai — disse Ben, e abraçou-o. E sentindo a força daquele abraço jovem, André quase acreditou. Mas, pensou, o filho não conhecera o medo. Não sabia como o mundo podia ser cruel.
André Staad amparou a mulher. Os dois ficaram parados à porta vendo Ben e o soldado se afastarem sobre a neve amontoada em direção ao trenó, que era apenas uma sombra no escuro, com lanternas nos dois lados produzindo um clarão espectral. Nenhum dos dois falou, enquanto Ben subia por um lado e o soldado pelo outro.
Um soldado só, André pensou, parece não ser tão mau. Talvez só queiram interrogá-lo. Rogo aos céus que seja só para interrogá-lo que querem o meu filho!
Os Staad ficaram imóveis em silêncio, fiapos de neve revoluteavam em seus tornozelos, enquanto o trenó se afastava da casa, as chamas das lanternas balançando, os guizos do trenó tilintando.
Quando desapareceram, Suzana rompeu em choro.
— Nós nunca mais o veremos — soluçava. — Nunca, nunca! Eles o levaram! Maldito Pedro! Maldito pelo que fez com meu filho! Maldito! Maldito!
— Psiu, mãe — disse André apertando-a com força. — Nós o veremos antes que amanheça. Até o meio-dia, o mais tardar.
Mas ela ouviu o tremor da voz dele e chorou mais alto. Chorou tão alto que acordou a pequena Emmaline (ou talvez fosse a corrente de ar da porta aberta), e só depois de muito tempo Emmaline voltou a adormecer. Finalmente, Suzana dormiu ao lado dela, as duas na cama do casal.
André Staad ficou acordado a noite inteira.
Permaneceu sentado ao pé do fogo, a esperar pelo melhor, mas no íntimo do coração estava convencido de que nunca mais veria o filho.
UMA HORA MAIS tarde, Ben Staad estava em pé no gabinete de Anders Peyna. Estava curioso, um pouco assombrado, mas não amedrontado. Ouvira atentamente tudo o que Peyna lhe dissera, e ouviu um tinido abafado quando moedas trocaram de mãos.
— Compreendeu tudo, jovem? — perguntou Peyna no tom seco que usava no tribunal.
— Sim, Excelência.
— Quero ter certeza. Não é brinquedo de criança a missão que lhe incumbe. Repita o que você tem de fazer.
— Devo ir ao castelo e falar com Denis, filho de Brandon.
— E se Brandon quiser interferir? — perguntou Peyna, incisivo.
— Devo dizer-lhe que fale com Vossa Excelência.
— Certo — disse Peyna, recostando-se na cadeira.
— Não devo dizer “Não fale a ninguém sobre isso”.
— Sim — disse Peyna. — Sabe por quê?
Por alguns instantes, Ben ficou pensativo, de cabeça baixa. Peyna deixou que pensasse. Tinha gostado do rapaz: mostrava-se calmo e senhor de si. Muitos outros levados à sua presença no meio da noite estariam gaguejando de pavor.
— Porque se eu dissesse isso, ele iria dar com a língua nos dentes muito mais depressa do que eu não dizendo nada — disse Ben finalmente.
Peyna esboçou um sorriso.
— Vossa Excelência entregou-me dez florins. Devo dar dois a Denis, um para ele mesmo e um para quem encontrar a casa de boneca que foi da mãe de Pedro. Os outros oito são para Beson, o chefe dos carcereiros. Quem encontrar a casa de boneca deve entregá-la a Denis. Este a entregará a mim, e eu a Beson. Quanto aos guardanapos, o próprio Denis os levará a Beson.
— Quantos?
— Vinte e um por semana — Ben respondeu rápido. — Guardanapos da casa real, com o brasão removido. Seu homem encarregará uma mulher de remover as insígnias reais. De tempos em tempos, alguém me procurará com mais dinheiro, ou para Denis ou para Beson.
— E nenhum para você? — perguntou Peyna. Já tinha oferecido. Ben recusara.
— Não. Creio que isso é tudo.
— Você entendeu depressa.
— Só queria poder fazer mais.
Peyna endireitou-se, a fisionomia repentinamente dura e proibitiva.
— Não deve e não fará — disse. — Isto já é bastante perigoso. Estará agenciando favores para um jovem que foi condenado por um crime atroz... de todos menos um, o mais atroz que um homem pode cometer.
— Pedro é meu amigo — disse Ben, e falou com uma dignidade que, por tão simples, tanto mais impressionava.
Anders Peyna sorriu e levantou um dedo apontando os vestígios de equimoses no rosto de Ben.
— Parece que você já está pagando por essa amizade.
— Eu pagaria este preço cem vezes — disse Ben. Hesitou por um instante, depois, atreveu-se: — Eu não acredito que ele tenha matado o pai. Ele amava o rei Rolando tanto quanto eu amo meu pai.
— É mesmo? — perguntou Peyna, aparentemente desinteressado.
— É, sim! — exclamou Ben. — E o senhor, Excelência, acredita que ele matou o pai? Acredita mesmo?
Peyna abriu um sorriso tão seco e feroz, que a própria exaltação de Ben arrefeceu.
— Se não acreditasse, teria muito cuidado escolhendo a quem o diria — comentou ele. — Muito, muito cuidado. Ou bem cedo haveria de sentir o aço do carrasco em meu pescoço.
Ben encarou Peyna em silêncio.
— Você diz que é seu amigo, e eu acredito. — Peyna sentou-se mais ereto na cadeira e levantou um dedo em riste para Ben. — Se quer ser um verdadeiro amigo, faça apenas o que pedi e mais nada. Se você vê nesta convocação misteriosa que trouxe você aqui uma esperança de uma eventual libertação de Pedro, e vejo no seu rosto que a vê, deve abrir mão dessa esperança.
Em vez de chamar Arlen, ele próprio acompanhou o rapaz até a saída — pela porta dos fundos. O soldado que o trouxera estaria na manhã seguinte a caminho do Baronato do Oeste.
À porta, Peyna disse:
— Mais uma vez: não se desvie do que combinamos, o mínimo que seja. A esta altura, os amigos de Pedro não são muito apreciados em Delain, como provam as suas equimoses.
— Eu poderia enfrentá-los a todos! — disse Ben arrebatadamente. — Um de cada vez ou todos juntos!
— Sim — disse Peyna com aquele sorriso seco e feroz. — E quereria que sua mãe fizesse o mesmo? Ou sua irmãzinha?
Ben demorou o olhar no velho, boquiaberto. O medo desabrochou-lhe no peito como uma pequena e delicada rosa.
— É o que vai acontecer, se você não se conduzir com o máximo cuidado — disse Peyna. — Os tumultos ainda não amainaram em Delain, estão apenas começando. — Abriu a porta; flocos de neve, impelidos por uma tenebrosa rajada de vento, remoinharam porta adentro. — Agora vá para casa, Ben. Acho que seus pais vão se alegrar de vê-lo tão cedo.
Essas últimas palavras ficaram muito aquém. Os pais de Ben esperavam à porta em seus trajes de dormir quando Ben entrou em casa. Tinham ouvido os guizos do trenó se aproximando. A mãe agarrou-se a ele, aos prantos. O pai, muito vermelho, os olhos insolitamente marejados, apertou a mão de Ben até fazê-la doer. Ben lembrou-se do que Peyna lhe dissera: Os tumultos não amainaram, estão apenas começando.
E ainda mais tarde, deitado na cama com as mãos debaixo da cabeça, fitando a escuridão e escutando o vento assobiar lá fora, Ben deu-se conta de que Peyna não tinha respondido à sua pergunta: não dissera se acreditava ou não que Pedro fosse culpado.
NO 17º DIA DO REINADO de Tomás, Denis, o filho de Brandon, levou ao Obelisco o primeiro lote de 21 guardanapos. Tinha-os tirado de um depósito de cuja existência nem Pedro, nem Tomás, nem Ben Staad, nem o próprio Peyna tinham conhecimento — posto que todos viriam a saber dele antes que o feio episódio da prisão de Pedro tivesse terminado. Denis sabia por ser filho de um mordomo vindo de uma longa linhagem, mas a intimidade gera a indiferença, como se diz, e o depósito de onde ele tirou os guardanapos não tinha para ele nenhum interesse especial. Mais tarde voltaremos a falar desse compartimento; por ora direi apenas que todos, se o vissem, haveriam de maravilhar-se, sobretudo Pedro. Pois se tivesse sabido da existência desse quarto que para Denis nada tinha de incomum, poderia ter tentado a fuga até três anos mais cedo... e muita coisa, para o bem ou para o mal, poderia ter mudado.
O EMBLEMA REAL FOI removido de cada guardanapo por uma mulher que Peyna contratou pela rapidez de sua agulha e pelo silêncio de seus lábios. Todos os dias, numa cadeira de balanço junto à porta do depósito, ela se ocupava em desfazer os pontos de bordado, que já eram muito velhos. Entregue a esse mister, ela mantinha os lábios apertados, por mais de uma razão: desmanchar aquelas obras primorosas era para ela quase um sacrilégio, mas a família era pobre, e o dinheiro de Peyna fora um presente do céu. Então, ficava ali sentada, e assim continuaria por diversos anos, a balançar-se e a manejar a sua agulha como aquelas Parcas de que vocês talvez tenham ouvido falar em outra história. Não falava com ninguém, nem mesmo com o marido, a respeito dos seus dias de desmancho.
Havia nos guardanapos um leve odor estranho — um vago cheiro de mofo, como se devido a um desuso prolongado —, mas no mais estavam em perfeito estado, todos medindo 20 por 20 rondéis, tamanho suficiente para proteger o colo do mais aplicado glutão.
A entrega inaugural de guardanapos foi acompanhada de uma pequena cena de comédia. Denis ficou a rondar Beson, à espera de uma gorjeta. Beson deixou-o rondar por algum tempo, porque esperava que mais cedo ou mais tarde o imbecil do rapaz lembraria de gratificá-lo a ele. Os dois chegaram simultaneamente à conclusão de que nem um nem outro iriam ser contemplados. Denis arrancou-se para a porta, e Beson ajudou-lhe o movimento com um pontapé nos fundilhos das calças. Isso fez um par de carcereiros ajudantes rirem-se gostosamente. A seguir, para nova diversão dos ajudantes, Beson fingiu limpar o traseiro com o maço de guardanapos; mas teve o cuidado de só fazer o gesto — afinal, de algum modo, Peyna estava metido no negócio, e era mais prudente ir devagar.
Por outro lado, talvez Peyna não continuasse a dar as cartas por muito tempo mais. Nas tavernas e espeluncas, Beson começara a ouvir cochichos dando conta de que a sombra de Flagg pairava sobre a cabeça do magistrado-geral, e se Peyna não tomasse muito, mas muito cuidado, poderia em breve estar assistindo às sessões do tribunal ainda mais a cavaleiro do que no assento que ora ocupava — poderia estar a espiar pela janela, diziam os gaiatos, cobrindo a boca com a mão, de um dos espigões sobre as muralhas do castelo.
NO 18º DIA DO REINADO de Tomás, veio o primeiro guardanapo na bandeja de Pedro quando, de manhã, lhe foi servido o desjejum. Era tão grande e o repasto tão pequeno, que cobria por completo a refeição. Pela primeira vez, desde que chegara a esse lugar empoleirado e glacial, Pedro sorriu. Suas faces e o queixo estavam sombreados pelos começos de uma barba que cresceria densa e longa, e ele parecia um personagem desesperançado... até sorrir. O sorriso iluminou-lhe a face com mágico poder, fazendo-o forte e radiante, um farol que se podia imaginar reconduzindo tropas à batalha.
— Ben — ele murmurou, pegando o guardanapo por uma das pontas. A mão lhe tremia um pouco. — Eu sabia que você o faria. Obrigado, meu amigo. Obrigado.
Enxugar as lágrimas foi seu primeiro gesto com o guardanapo, e as lágrimas agora corriam livremente pelas faces.
O postigo na maciça porta de madeira abriu-se. Dois carcereiros ajudantes novamente apareceram como as duas cabeças do papagaio de Flagg, espremidos no pequeno espaço, bochecha com bochecha.
— Vamos ver se o garotinho não se esquece de limpar o seu queixinho! — entoou um deles numa voz esganiçada.
— Vamos ver se limpa o ovinho na sua camisolinha! — murmurou o outro, e os dois romperam em gargalhadas de escárnio. Mas Pedro não olhou para eles, e o seu sorriso não se apagou.
Os guardas viram o sorriso e pararam de zombar. Havia nele algo que proibia chacotas.
Daí a pouco fecharam o postigo e deixaram Pedro em paz.
Ao meio-dia veio outro guardanapo com o almoço.
Outro à noite com o jantar.
Nos cinco anos seguintes, Pedro recebeu os guardanapos em sua cela isolada no céu.
A CASA DE BONECA chegou no 30º dia do reinado de Tomás, o Portador da Luz. A essa altura os modílios, esses primeiros prenúncios da primavera (a que chamamos centáureas), floriam em pequenos molhos à beira dos caminhos. E a essa altura, Tomás, o Portador da Luz, sancionara a lei do Aumento de Impostos dos Agricultores, que logo ficou conhecida como a Lei Negra de Tomás. A última pilhéria nas tavernas e nas espeluncas era que, muito em breve, o rei estaria trocando o seu real cognome pelo de Tomás o Tributador. O aumento não foi de 8%, o que teria sido razoável, nem de 18%, o que teria sido suportável, mas, sim, de 80%. A princípio, Tomás vacilara um pouco, mas Flagg não precisou esperar muito para convencê-lo.
— Temos de taxá-los mais sobre o que eles confessam que têm para que se possa arrecadar, em parte pelo menos, o que nos é devido sobre tudo o que se esconde do coletor de impostos — disse Flagg.
Tomás, com a cabeça anuviada pelo vinho que agora corria à farta pelas câmaras régias do castelo, concordara com uma expressão na cara que esperava refletir sabedoria.
Por seu lado, Pedro começava a recear que a casa de boneca se tivesse perdido depois de 30 anos — e isso quase foi verdade. Ben Staad encarregara Denis de encontrá-la. Depois de vários dias de buscas infrutíferas, Denis recorreu ao seu bondoso pai — a única pessoa a quem se atrevia a confiar assunto tão melindroso. Brandon levou mais cinco dias para achar a casa de boneca num dos quartos de despejo do nono pavimento do torreão oeste, onde seu alegre gramado de mentira e suas longas alas sinuosas se escondiam debaixo de uma velha colcha, meio roída de traças e amarelecida pelos anos. Todos os objetos originais continuavam na casa, e foram necessários mais três dias para que Brandon, Denis e um soldado escolhido a dedo por Peyna exaustivamente removessem todos os objetos pontudos ou afiados; depois, finalmente, a casa de boneca foi entregue por dois escudeiros, que se apressaram em galgar os 300 degraus com aquela coisa incômoda e pesada, pregada a uma tábua entre eles. Beson seguiu-os de perto, praguejando e prometendo punições terríveis se a deixassem cair. O suor escorria pelas caras dos rapazes, mas eles não respondiam.
Quando a porta da prisão se abriu e a casa de boneca foi levada para dentro, Pedro teve um arquejo de espanto — não só porque a casa de boneca chegara finalmente, mas porque um dos carregadores era Ben Staad.
Não dê nenhum sinal!, telegrafaram os olhos de Ben.
Não olhe muito para mim!, Pedro telegrafou de volta.
Depois do conselho que dera, Peyna teria ficado assombrado se tivesse visto Ben ali. Esquecera que a lógica de todos os velhos sábios do mundo muitas vezes não resiste à de um coração jovem, se esse coração é grande, nobre e leal. O de Ben Staad era as três coisas.
Fora a coisa mais fácil do mundo tomar o lugar de um dos escudeiros designados para transportar a casa de boneca para o alto do Obelisco. Por um florim — todo o dinheiro que Ben tinha no mundo, por sinal — Denis arranjara a troca.
— Não conte isso a seu pai — Ben recomendou a Denis.
— Por que não? — Denis perguntara. — Eu conto ao meu velho quase tudo... Você não?
— Eu contava — disse Ben, lembrando-se de como o pai o proibira de voltar a pronunciar o nome de Pedro em casa. — Mas quando a gente cresce, isso às vezes muda, acho eu. Seja como for, Denis, isto você não deve contar. Ele poderia informar Peyna, e eu me veria em maus lençóis.
— Está bem — Denis prometeu.
E cumpriu a promessa. Denis sofrera um fundo abalo ao ver o seu senhor, a quem amava, primeiro acusado e, em seguida, condenado por assassinato. Nesses últimos dias, Ben tinha avançado um bom caminho no sentido de preencher o vazio aberto no coração de Denis.
— Ótimo — disse Ben, aplicando um soco brincalhão no ombro de Denis. — Eu só quero vê-lo um minuto e reconfortar meu coração.
— Ele era o seu melhor amigo, não?
— Ainda é.
Denis encarou-o, espantado.
— Como pode dizer que um homem que matou o próprio pai é o seu melhor amigo?
— Porque não acredito que ele o tenha feito — disse Ben. — E você? Para completo pasmo de Ben, Denis rompeu num choro incontido.
— Todo o meu coração diz o mesmo, no entanto...
— Então escute o que ele diz — disse Ben, e apertou Denis num abraço rude. — E enxugue o seu focinho antes que alguém o veja a berrar como um cabrito.
— Ponham no outro quarto — disse Pedro, contrariado com o leve tremor da própria voz.
Beson não notou: estava ocupado demais em amaldiçoar os dois rapazes pela sua lerdeza, pela sua estupidez, pela sua simples existência. Carregaram a casa para o quarto de dormir e a puseram no chão. O outro rapaz, que tinha cara de tolo, abaixou o lado dele sem cuidado e com força demais. Houve um ligeiro barulho de algo se quebrando dentro. Pedro teve um estremecimento. Beson esbofeteou o rapaz — mas fez isso sorrindo. Pela primeira vez, algo de bom lhe acontecia desde que os dois jovens lhe tinham aparecido com aquela maldita coisa.
O garoto tolo se pôs de pé, esfregando o lado do rosto, que já começava a inchar, e fixando em Pedro os olhos arregalados de medo e assombramento, a boca escancarada. Ben continuou ajoelhado mais alguns instantes. Em frente à porta de entrada da casa, havia um pequeno capacho de fibra; por um breve instante, Ben passeou o polegar sobre ele e seus olhos encontraram os de Pedro.
— Agora fora! — gritou Beson. — Fora os dois! Vão embora, e malditas sejam suas mães por botarem no mundo um par de vagabundos imprestáveis como são vocês!
Os rapazes passaram por Pedro, o caipira desviando-se encolhido como se o príncipe sofresse de uma doença que ele pudesse pegar. Mais uma vez os olhos de Ben encontraram os de Pedro, e Pedro estremeceu vendo o amor refletido nos olhos do amigo. Em seguida, desapareceram.
— Muito bem, aí a tem, meu principelho — disse Beson. — Que mais devemos trazer-lhe? Vestidinhos de babados? Calcinhas de seda?
Pedro voltou-se devagar e encarou Beson. Passado um momento, Beson baixou os olhos. Havia um quê de assustador no olhar de Pedro, e Beson foi obrigado a lembrar-se de que, maricas ou não, Pedro lhe tinha aplicado uma surra de tal ordem, que as costelas lhe tinham doído por dois dias e durante uma semana ele sofrera acessos de tonteira.
— Bem, isso é com você — resmungou. — Mas agora que a tem, eu poderia arranjar-lhe uma mesa para botá-la em cima. E uma cadeira para você sentar quando... — Fez uma careta. — Quando brincar com ela.
— E quanto custaria isso?
— Não mais que uns três florins, eu acho.
— Eu não tenho dinheiro.
— Ah, mas conhece gente poderosa.
— Isso acabou — disse Pedro. — Troquei um favor por outro, foi tudo.
— Então, sente no chão e crie frieiras na bunda, e o diabo que o carregue! — disse Beson, e saiu pisando duro.
A pequena chuva de florins com que fora contemplado desde a entrada de Pedro no Obelisco aparentemente se estancara. Durante vários dias, Beson ficou de péssimo humor.
Pedro esperou que todos os fechos e ferrolhos fossem encaixados com estrondo em seus lugares antes de erguer o capacho que Ben tinha roçado com o polegar. Embaixo, encontrou um quadrado de papel não maior que um selo de correio. Estava escrito dos dois lados, e não havia espaços entre as palavras. As letras eram miudinhas — Pedro teve de forçar os olhos para ler e imaginou que Ben devia ter escrito com o auxílio de uma lente.
Pedro — depois de ler destrua isto. Não acredito que você tenha feito aquilo. Estou certo de que outros pensam como eu. Continuo seu amigo. Amo-o como sempre. Denis também acredita em você. Se eu puder ser útil, entre em contato comigo por intermédio de Peyna. Conserve sua coragem.
Lendo isso, os olhos de Pedro encheram-se de quentes lágrimas de gratidão. Acho que a amizade verdadeira sempre nos faz sentir esse doce reconhecimento, porque o mundo quase sempre se parece com um deserto muito hostil e as flores que nele crescem parecem se desenvolver em condições muito adversas.
— Meu velho Ben! — ele ficou a repetir muitas e muitas vezes num murmúrio. Em sua emoção transbordante, não lhe ocorria dizer nada diferente. — Meu velho Ben! Meu velho Ben!
Pela primeira vez, começou a realmente acreditar que seu plano, louco e temerário como era, tinha uma possibilidade de dar certo.
Em seguida, pensou no bilhete. Ben arriscara o pescoço para escrevê-lo. Ben tinha sangue nobre — um toque —, mas não real: assim, não era imune ao machado do carrasco. Se Beson ou um de seus idiotas achasse a mensagem, adivinharia que um dos dois rapazes que tinham trazido a casa da boneca a teria escrito. O caipira não tinha cara de saber nem mesmo ler as letras grandes de um livro de criança, muito menos de escrever miúdas como aquelas. Logo, iriam atrás do outro, e daí ao cepo seria uma curta viagem para o velho Ben.
Só lhe ocorreu uma maneira de livrar-se do bilhete, e ele não hesitou: fez dele uma bolinha entre o polegar e o indicador da mão direita, e o engoliu.
A ESTA ALTURA, GARANTO que vocês já adivinharam o plano de fuga de Pedro, porque já sabem bem mais do que sabia Peyna, quando leu seus pedidos. Mas de qualquer modo é hora de contar-lhes tudo claramente. O plano era usar fios de tecido para fazer uma corda. Os fios sairiam, é claro, das bordas dos guardanapos. Ele desceria pela corda até o solo e estaria livre. Alguns de vocês talvez estejam rindo dessa idéia. Fios de guardanapos para fugir de uma torre de mais de 100 metros de altura?, estarão dizendo. Ou você é maluco, Contador de Histórias, ou Pedro era!
Nada disso. Pedro sabia a altura do Obelisco e achava que não deveria nunca ser ávido com respeito a quantos fios tirar de cada guardanapo. Se ele desfiasse muito, alguém poderia ter a curiosidade despertada. Não necessariamente o chefe dos carcereiros: poderia ser a lavadeira que notasse a falta regular de um pedaço em cada guardanapo. Poderia comentar o fato com uma amiga... que poderia comentar com outra amiga... e a história se espalharia... e na verdade não era com Beson que Pedro se preocupava, vocês sabem, Beson era, no geral, um sujeito meio burro.
Flagg não.
Flagg era o assassino de seu pai...
... e Flagg tinha os ouvidos aguçados.
Foi uma pena que nunca ocorresse a Pedro especular aquele vago cheiro de bolor nos guardanapos, ou perguntar se a pessoa empregada para remover os timbres teria sido dispensada depois de remover um certo número deles, ou se essa pessoa continuava a trabalhar — mas, naturalmente, sua atenção estava em outras coisas. Não pôde deixar de notar que eles eram muito velhos, e isso sem dúvida era bom — permitia-lhe tirar muito mais fios de cada um do que tinha calculado, mesmo em seus momentos mais otimistas. Quantos mais poderia ter tirado, ele só ficou sabendo com o correr do tempo.
Mesmo assim, sei que alguns de vocês estão pensando, fios de guardanapos para fazer uma corda bem longa para ir da janela da cela no topo do Obelisco até o pátio lá embaixo? Fios de guardanapos para fazer uma corda capaz de suportar 75 quilos? Continuo a achar que você está brincando!
Aqueles de vocês que estão pensando assim esqueceram a casa de boneca... e o tear dentro dela, um tear tão diminuto, que os fios dos guardanapos adaptavam-se perfeitamente à sua diminuta lançadeira. Aqueles de vocês que estão pensando assim esqueceram que tudo na casa de boneca era em miniatura, mas funcionava com toda a perfeição. Os objetos cortantes tinham sido retirados, e isso incluía a lâmina de corte do tear... mas, de resto, tudo estava intacto.
A casa de boneca, que tanto tempo atrás inspirara em Flagg vagos pressentimentos, era agora para Pedro a única esperança real de salvação.
EU TERIA DE SER um contador de histórias muito melhor do que sou, eu acho, para contar-lhes como foram para Pedro os cinco anos que ele passou na cela do Obelisco. Ele comia; dormia; olhava pela janela, que lhe dava a vista do oeste da cidade; fazia exercícios de manhã, ao meio-dia e no fim da tarde; sonhava seus sonhos de liberdade. No verão, sua morada escaldava. No inverno, gelava.
Durante o segundo inverno, ele apanhou uma forte gripe que quase o matou.
Ficou na cama, febril e tossindo debaixo de seu fino cobertor. A princípio, seu único receio foi cair em delírio e comentar sobre a corda, escondida num rolo caprichado sob dois blocos de pedra, no lado leste da alcova. Quando a febre piorou, a corda que ele tecera com auxílio do minúsculo tear da casa de boneca passou a parecer-lhe menos importante, porque ele começou a achar que ia morrer.
Beson e seus ajudantes estavam convencidos disso. Por sinal, até já estavam apostando em quando ia acontecer. Certa noite, cerca de uma semana depois de começar a febre, enquanto o vento rugia atroz do lado de fora e a temperatura caía a zero, Rolando apareceu a Pedro em sonho. Pedro teve certeza de que Rolando viera para levá-lo com ele aos Campos do Além.
— Eu estou pronto, pai! — exclamou. Em seu delírio, não sabia se tinha falado em voz alta ou só em pensamento. — Estou pronto para ir!
Você ainda não vai morrer, disse o pai no sonho... ou visão... ou fosse o que fosse. Tem muito o que fazer, Pedro.
— Pai! — gritou Pedro.
Sua voz ressoou forte, e abaixo dele os carcereiros — Beson inclusive — estremeceram, pensando que Pedro devia estar vendo o fantasma assassinado e fumegante de Rolando, vindo para levar-lhe a alma para o inferno. Nessa noite, não fizeram mais apostas, e um deles, por sinal, foi logo no dia seguinte à igreja dos Grandes Deuses e se reconverteu à sua religião. Mais tarde tornou-se sacerdote. O nome do homem era Curran, e talvez eu fale dele numa outra história.
Pedro estava mesmo vendo um fantasma, de certo modo — embora eu não saiba dizer se era de fato a sombra do pai ou simplesmente um espectro nascido do seu cérebro atacado pela febre.
Sua voz reduziu-se a um murmúrio; os carcereiros não ouviram o resto.
— Está tão frio... e eu estou tão quente.
Meu pobre filho, disse a imagem fosforescente do pai. Você passou por duras provações, e penso que outras mais o esperam. Mas Denis saberá...
— Saberá o quê? — arquejou Pedro.
Tinha as faces rubras, mas a testa lívida como uma vela de cera.
Denis saberá aonde o sonâmbulo vai, cochichou o pai e desapareceu.
Pedro mergulhou numa vertigem, que logo se transformou em sono profundo e tranqüilo. No sono, a febre cedeu. O jovem, que no último ano se habituara a praticar diariamente 60 flexões no solo e 100 levantamentos, na manhã seguinte acordou tão fraco, que nem pôde se mexer na cama... mas estava lúcido outra vez.
Beson e os ajudantes se decepcionaram. Mas, depois dessa noite, passaram a tratar Pedro com uma espécie de respeito e a tomar o cuidado de nunca chegar muito perto dele.
O que, naturalmente, tornou a sua tarefa muito mais fácil.
Tudo isso é uma história fácil de contar, se bem que sem dúvida seria bem melhor se eu pudesse afirmar com certeza que o fantasma era real ou que não era. Mas, como em outros pontos da história maior, cada um de vocês que pense como lhe agrade.
Mas como descrever a estafante, interminável tarefa de Pedro a tecer no pequeno tear? Está além das minhas forças. Todas as horas consumidas, às vezes expelindo nuvens de vapor gelado da boca e do nariz, às vezes com o suor escorrendo pelo rosto abaixo, sempre com medo de ser descoberto; todas as longas horas solitárias, sem nada além dos pensamentos e esperanças quase estapafúrdias para enchê-las. Eu posso contar-lhes umas tantas coisas, e as contarei, mas dar idéia do que foram essas horas e dias de lenta sucessão é para mim impossível, e talvez fosse impossível para qualquer um, à exceção daqueles grandes narradores cuja estirpe de há muito se extinguiu. Talvez o único fator capaz de, ao menos vagamente, sugerir o tempo que Pedro passou naquelas duas celas fosse a barba. Quando ele entrou, não era mais que uma sombra nas faces e uma mancha debaixo do nariz — uma barba de adolescente. Nos 1.825 dias que se seguiram, tornou-se longa e luxuriante: ao cabo desse tempo, chegava-lhe ao meio do peito e, embora ele só tivesse 21 anos, era raiada de prata. O único lugar onde ela não cresceu foi na extensão da cicatriz irregular deixada pela unha do polegar de Beson.
No primeiro ano, Pedro só se atreveu a tirar cinco fios de cada guardanapo — 15 fios por dia. Guardava-os debaixo do colchão, e ao fim de cada semana tinha 105 fios. Na nossa unidade de medida, cada fio tinha pouco mais de um centímetro de comprimento.
O primeiro lote ele teceu uma semana depois de receber a casa de boneca, trabalhando cuidadosamente com o tear. Aos 17 anos, não era tão fácil operá-lo como fora aos cinco. Os dedos tinham crescido; o tear não. Além do mais, ele estava horrivelmente nervoso. Se um dos carcereiros o surpreendesse no trabalho, ele podia dizer que estava usando o tear para tecer fios perdidos dos velhos guardanapos para distrair-se... se é que acreditariam. E se o tear funcionasse. Ele só teve certeza quando viu a primeira corda fina, perfeitamente tecida, emergir do outro extremo do tear. À vista disso, seu nervosismo se abrandou e ele conseguiu tecer um pouco mais depressa, alimentando os fios, puxando o tear um pouco mais rápido, acionando o pedal com o polegar. A princípio, o tear rangeu um pouco, mas logo a graxa velha amoleceu e ele voltou a funcionar tão bem como funcionava em sua infância.
Mas a corda era muito fina, tinha menos de meio centímetro de espessura. Pedro amarrou as pontas e tentou dar alguns puxões. A corda agüentou. Sentiu-se um pouco mais animado. A corda era mais forte do que parecia, e ele pensou que tinha mesmo de ser forte. Afinal, tratava-se de guardanapos reais, tecidos com o melhor fio de algodão que havia em todo o reino, e ele apertara firmemente a trama. Puxou com mais força, tentando adivinhar quantos quilos de esforço estaria aplicando à fina corda de algodão.
Puxou mais forte ainda, a corda continuou resistindo, e ele sentiu mais esperança infiltrar-se em seu coração. Surpreendeu-se a pensar em Yosef.
Fora Yosef, o chefe das cavalariças, quem lhe falara de algo terrível e misterioso chamado “tensão de ruptura”. Fora em pleno verão, e eles estavam observando enormes bois anduanos a puxar blocos de pedra para a praça do novo mercado. Havia um suarento e vociferante condutor montado no lombo de cada boi. Pedro não tinha na época mais de 11 anos, e achou aquilo melhor do que um circo. As correntes que puxavam os blocos de pedra aparelhada estavam enganchadas ao arreio, de cada lado do pescoço do animal. Yosef explicou-lhe que era preciso estimar com precisão o peso de cada bloco.
— Porque se os blocos forem pesados demais, os bois podem machucar-se ao tentar puxá-los — disse Pedro.
Não chegava a ser uma pergunta, porque a resposta parecia evidente para ele. Sentia pena dos bois, arrastando aquelas pedras enormes.
— Não — disse Yosef. Acendeu um cigarro de palha de milho, quase queimando a ponta do nariz, e aspirou profundamente com satisfação. A companhia do príncipe sempre lhe dava prazer. — Não! Os bois não são estúpidos... as pessoas só têm essa impressão porque eles são grandes, dóceis e prestativos. Mais cabe dizer isso de gente que dos bois, se você quer saber o que penso, mas deixa isso para lá, deixa isso para lá.
Se um boi pode puxar um bloco, ele puxa; se não pode, tenta duas vezes, depois fica parado de cabeça baixa. E não se mexe do lugar, nem que um mau dono lhe recorte o couro a chicotadas. Os bois parecem estúpidos, mas não são. Nem um pouco.
— Então, por que é preciso calcular o peso dos blocos que talham, se o boi sabe o que pode puxar e o que não pode?
— A questão não são os blocos; são as correntes.
Yosef apontou para um dos bois, arrastando um bloco que a Pedro pareceu do tamanho de uma pequena casa. O boi tinha a cabeça baixa, os olhos pacientes fitos à frente, enquanto o condutor o cavalgava e o guiava com pequenos golpes de sua vara. No extremo da dupla corrente do bloco, avançava devagar, cavando um sulco na terra, tão fundo que uma criança pequena teria de esforçar-se para sair de dentro dele.
— Se um boi pode puxar um bloco, ele puxa, mas um boi não entende nada de correntes, nem de tensão de ruptura.
— O que é isso?
— Puxa-se uma coisa com certa força e ela arrebenta — disse Yosef. — Se uma corrente dessas arrebenta, é uma chicotada dos diabos. Não queira saber o que acontece, se uma corrente grossa arrebenta quando esticada por uma força como a que esses bois podem fazer. Pode voar em qualquer direção. Quase sempre para trás. Pode atingir o condutor e parti-lo em dois, ou decepar as pernas do próprio animal.
Yosef puxou outra baforada de seu cigarro improvisado e atirou o toco na terra. Fixou em Pedro um olhar astuto e amistoso.
— Tensão de ruptura — disse. — É algo que é bom um príncipe entender. Um puxão muito forte e quebra-se uma corrente. Isso também pode acontecer com as pessoas. Guarde isso na cabeça.
Ele tinha a idéia na cabeça agora, ao testar a sua primeira corda. Que força estaria aplicando no seu “puxão”? Cinco rulos? Pelo menos. Dez? Talvez. Mas talvez estivesse sendo otimista. Digamos oito. Não, sete. Ao errar, era melhor errar para menos. Se calculasse mal... bem, as pedras do calçamento da Praça do Obelisco eram duríssimas.
Puxou com mais força ainda, os músculos dos braços começavam agora a ressaltar um pouco. Quando a primeira corda finalmente se partiu, Pedro calculou que estaria aplicando bem uns 15 rulos — quase 30 quilos! — de tensão.
O resultado não lhe pareceu mal.
Mais tarde, nessa noite, ele atirou pela janela a corda partida. No dia seguinte, os homens que limpavam todos os dias a Praça do Obelisco haveriam de varrê-la com o resto do lixo.
A mãe de Pedro, vendo o interesse dele na casa de boneca e nos minúsculos equipamentos dentro dela, tinha-lhe ensinado a tecer cordas e trançá-las, formando pequenas mantas. Quando a gente passa muito tempo sem fazer algo, tende a esquecer o jeito exato de fazer, mas o que a Pedro não faltava era tempo, e, depois de algumas tentativas, ele pegou novamente o jeito de trançar.
“Trançar” era como a mãe chamava àquilo e, por isso, era o nome que ele tinha na cabeça, mas no caso não era o termo apropriado; uma trança, a rigor, é o enlaçamento manual de duas cordas. Entretecer, que era o modo de fazer as mantas, é entrelaçar à mão três ou mais cordas. Nesse caso, colocam-se duas cordas separadas, mas com as pontas de cima e de baixo alinhadas. A terceira é colocada entre elas, porém mais abaixo, de modo que a ponta sobra. O processo é repetido à medida que cada comprimento é acrescentado. O resultado lembra um pouco as mantas trançadas da casa da vovó.
Pedro levou três semanas para juntar os fios em quantidade suficiente para ensaiar essa técnica e a maior parte de uma quarta para lembrar-se de como exatamente era a seqüência de por-cima-por-baixo no entrelaçamento. Mas quando acabou tinha uma corda de verdade. Era fina, e vocês o julgariam louco de confiar a ela o seu peso, mas era bem mais resistente do que parecia. Ele verificou que era capaz de rompê-la, mas somente enrolando as pontas firmemente em cada mão e puxando até que os músculos endurecessem nos braços e no peito e as veias ressaltassem no pescoço. No teto do quarto de dormir, havia várias vigas grossas de carvalho. Quando tivesse uma corda comprida o bastante, ele teria de testar seu peso pendurando-se a uma delas. Se ela rebentasse, teria de começar tudo de novo... mas pensamentos como esse nada adiantavam, e Pedro sabia disso — assim, pôs mãos à obra.
Cada fio que ele puxava tinha cerca de 14 centímetros de comprimento, mas Pedro perdia mais ou menos cinco centímetros e meio no tecer e entrelaçar. Custou-lhe três meses fabricar uma corda de três pernas, cada perna consistindo em 105 fios de algodão, reunidas numa trança de 90 centímetros de comprimento. Uma noite, depois de assegurar-se de que todos os carcereiros estavam bêbados e a jogar cartas embaixo, amarrou a corda a uma das vigas. Depois de fechada a laçada por meio de um nó corrediço, ficou pendendo um pedaço de menos de 40 centímetros.
Parecia lamentavelmente fino.
Mesmo assim, Pedro agarrou-o e pendurou-se nele, os lábios apertados numa aflita linha branca, esperando que a qualquer momento os fios cedessem e o derrubassem no chão. Mas eles agüentaram.
Agüentaram.
Mal ousando acreditar no que acontecia, Pedro deixou-se ficar ali dependurado a uma corda que de tão fina quase não se via. Ficou dependurado quase um minuto inteiro, depois se apoiou na cama para desatar a corda. Suas mãos tremiam e, por duas vezes, ele se atrapalhou com o nó porque lágrimas lhe turvavam a visão. Não sentira o peito tão apertado desde quando lera o bilhete minúsculo de Ben.
PEDRO VINHA GUARDANDO a corda debaixo do colchão, mas sabia que isso não ia servir por muito tempo. O Obelisco tinha mais de 110 metros de altura no vértice do seu telhado cônico; sua janela estava cerca de 100 metros acima do calçamento. Ele tinha um metro e 90 centímetros de altura e achava que poderia deixar-se cair até uns sete metros da corda. Mas na melhor das hipóteses teria, no futuro, de esconder 90 metros de corda. Descobriu uma laje solta no lado leste do piso do quarto de dormir e cuidadosamente levantou-a. Ficou surpreso e contente ao ver que havia por baixo um pequeno desvão. Não conseguindo ver direito o interior, introduziu a mão e tateou às cegas, o corpo todo rijo e tenso, esperando que algo ali embaixo no escuro lhe rastejasse sobre a mão... ou a picasse.
Nada aconteceu, e ele já ia recolhê-la quando um de seus dedos roçou em algo — um metal frio. Pedro tirou-o para fora e viu que era um medalhão em forma de coração preso a uma corrente fina. O medalhão e a corrente pareciam de ouro. Pelo peso, não acreditou que o medalhão fosse de ouro falso. Depois de revirar e apalpar por algum tempo, encontrou um delicado fecho. Pressionou-o e a tampa saltou. Dentro, havia dois retratos, um de cada lado — tão primorosos como qualquer das pinturas minúsculas da casa de boneca de Sacha; talvez mais até. Pedro contemplou os rostos com o sincero deslumbramento de um menino. O homem era bonito, a mulher, belíssima. Havia um leve sorriso nos lábios do homem e um brilho estouvado em seus olhos. Os olhos da mulher eram graves e sombrios. Em parte, o espanto de Pedro provinha do fato de que o medalhão devia ser muito antigo, a julgar pelo que via das roupas; mas só em parte. O motivo principal era o fato de os dois rostos lhe parecerem estranhamente familiares, tinha certeza de tê-los visto antes.
Fechou o medalhão e examinou-lhe o reverso. Pareceu-lhe ver iniciais entrelaçadas, mas eram por demais floreadas e encaracoladas para que ele as pudesse distinguir.
Num impulso, sondou novamente a cavidade. Desta vez tocou o papel. A folha única de almaço que extraiu era velha e esfacelada, mas a escrita era clara e a assinatura inconfundível. O nome era Leven Valera — o infame Duque Negro do Baronato do Sul. Valera, que poderia ter-se tornado rei, em vez disso passara os últimos 25 anos de sua vida na prisão do alto do Obelisco pelo assassinato da mulher. Não era de espantar que os rostos do medalhão parecessem conhecidos! O homem era Valera; a mulher era a esposa assassinada de Valera, Eleonora, cuja beleza ainda era cantada em baladas.
A tinta que Valera usara era de uma estranha cor escura e ferruginosa, e a primeira linha da mensagem fez gelar o coração de Pedro. A mensagem inteira deu-lhe calafrios, e não apenas porque a semelhança entre o caso de Valera e o dele próprio parecesse por demais perfeita para ser coincidência.
A quem esta encontrar...
Escrevo com meu próprio sangue, tirado de uma veia que abri em meu antebraço esquerdo, e minha pena é um cabo de colher que apontei durante muito tempo nas pedras da minha alcova. Quase 25 anos eu passei aqui no céu: entrei jovem e hoje sou um velho. A febre e os acessos de tosse me voltaram, e desta vez acho que não sobreviverei.
Não matei minha mulher. Não, por mais que toda prova fale contra mim, não matei minha mulher. Eu a amava e ainda a amo, embora o seu semblante querido se tenha velado um tanto em minha memória traiçoeira.
Estou convencido de que foi o mago do rei quem matou Eleonora, e dispôs tudo de modo que me afastasse, pois eu estava em seu caminho. Parece que seus planos deram resultado e que ele prosperou; mas eu tenho fé em que existem deuses que punem a maldade no final. 0 dia dele virá, e eu me convenço cada vez mais fortemente, à medida que a morte se avizinha, que ele será derrubado por Alguém que venha a estar neste lugar de desespero, Alguém que encontre e leia esta carta escrita com meu sangue.
Se assim for, eu conclamo: Vingança, Vingança, Vingança! Esqueça a mim e a meus anos perdidos se quiser, mas nunca, nunca, nunca esqueça a minha querida Eleonora, morta quando dormia em sua cama! Não fui eu que envenenei o vinho; aqui com sangue eu escrevo o nome do assassino: Flagg! Foi Flagg! Flagg! Flagg!
Leve o medalhão, e mostre-o no último momento antes de livrar este mundo do seu maior patife — mostre-o para que nesse instante ele saiba que eu fui parte de sua queda, ainda que de além da minha injusta sepultura de assassino.
Leven Valera
Talvez agora vocês tenham entendido a verdadeira causa dos calafrios de Pedro; ou talvez não. Talvez entendam melhor se eu lhes lembrar que embora parecesse um homem no vigor da meia-idade, Flagg era na verdade muito velho.
Sim, Pedro lera a respeito do suposto crime de Leven Valera. Mas os livros em que lera sobre ele eram livros de história. De história antiga. Esse pergaminho amarelado e meio desmanchado falava primeiro do mago do rei, depois falava de Flagg pelo nome. Falava? Gritava, clamava — em sangue.
Mas o suposto crime de Valera acontecera no reinado de Alão II...
...e Alão II reinara em Delain 450 anos atrás.
— Deus do céu — murmurou Pedro. Recuou cambaleando até a cama e caiu sentado nela bem a tempo de evitar que os joelhos, cedendo, o fizessem desabar no chão. — Ele já fez isso antes! Ele já fez isso antes, e do mesmo modo exatamente, mas foi há mais de quatro séculos!
Pedro estava lívido como um cadáver; sentia os cabelos eriçados. Pela primeira vez compreendia que Flagg, o mago do rei, era na verdade Flagg o monstro, agora outra vez à solta em Delain, servindo um novo rei — servindo o seu irmão, jovem, confuso e fácil de persuadir.
DE INÍCIO PEDRO teve um ímpeto descontrolado de prometer a Beson mais uma propina para levar a Anders Peyna o medalhão e o velho pergaminho. Em seu primeiro arroubo de emoção, pareceu-lhe que a mensagem haveria de apontar o dedo da culpa para Flagg e livrá-lo a ele, Pedro, da prisão. Um pouco de reflexão convenceu-o de que isso poderia acontecer num livro de história, mas não na vida real. Peyna acharia graça e diria tratar-se de uma falsificação. E se o levasse a sério? Poderia ser o fim do magistrado-geral, tanto quanto do príncipe prisioneiro. Pedro tinha os ouvidos aguçados e escutava atentamente os boatos que se espalhavam nas tavernas e espeluncas, transmitidos nos dois sentidos entre Beson e seus ajudantes. Soubera do Aumento de Impostos dos Agricultores, soubera do amargo sarcasmo em que se sugeria que Tomás, o Portador da Luz, fosse renomeado Tomás o Tributador. Tinha ouvido até que alguns atrevidos chamavam a seu irmão Tomás o Pateta Beberrão. O machado do carrasco era brandido com a regularidade de um pêndulo de relógio desde que Tomás subira ao trono de Delain, só que esse relógio soava traição-sedição, traição-sedição, traição-sedição, numa monotonia que seria enfadonha se não fosse tão apavorante.
A essa altura, Pedro começara a suspeitar do objetivo de Flagg: levar a monarquia ordeira de Delain a um completo colapso. Mostrar o medalhão e a mensagem só resultaria em provocar o riso ou em levar Peyna a desencadear alguma ação. E isso sem dúvida nenhuma seria o fim dos dois.
Pedro devolveu o medalhão e o papel ao lugar de onde tinham saído. E com eles guardou a pequena trança de 90 centímetros que lhe custara um mês entretecer. No final, não se sentiu muito desencantado com as lidas da noite — a corda tinha agüentado, e a descoberta do medalhão e da mensagem, depois de mais de 400 anos, ao menos provava algo: dificilmente o esconderijo seria encontrado.
Mesmo assim, havia muito para pensar, e boa parte da noite ele passou acordado.
Quando adormeceu, pareceu-lhe ouvir a voz seca e implacável de Leven Valera sussurrando-lhe ao ouvido: Vingança! Vingança! Vingança!
O TEMPO, AH, O TEMPO — Pedro passou muito tempo no alto do Obelisco. Sua barba cresceu, menos onde a cicatriz branca lhe cortava a face como um raio. Enquanto ela crescia, ele, de sua janela, viu muitas transformações. Ouviu falar de mudanças ainda mais terríveis. O pêndulo do carrasco não reduzira a cadência, pelo contrário, aumentara: trai-ção-sedição, traição-sedição, badalava, e às vezes seis cabeças rolavam num mesmo dia.
Durante o terceiro ano da prisão de Pedro, o ano em que pela primeira vez ele conseguiu fazer 30 elevações seguidas pendurado à viga central de sua alcova, Peyna, desgostoso, renunciou ao posto de magistrado-geral. Foi o assunto das tavernas e espeluncas durante uma semana, e assunto dos carcereiros de Pedro uma semana e um dia. Os carcereiros achavam que Flagg mandaria prender Peyna antes mesmo que o calor do traseiro do velho esfriasse no assento do juiz, e que logo depois os cidadãos de Delain descobririam de uma vez por todas se era sangue ou água gelada que corria nas veias do magistrado-geral. Mas Peyna foi deixado em liberdade e o falatório cessou. Pedro ficou contente por Peyna não ser preso. Não lhe guardava rancor, embora Peyna tivesse pensado que ele matara o pai; e sabia que a trama fora obra de Flagg.
Também no terceiro ano de Pedro no Obelisco, o velho Brandon, pai de Denis, morreu. Seu passamento foi simples, mas solene. Ele acabara seu dia de trabalho, apesar de uma forte dor no peito e no lado, e voltou lentamente para casa. Sentou-se na pequena sala de visitas, esperando que a dor passasse. Ao contrário, ela piorou. Chamou a mulher e o filho ao pé de si, beijou os dois e pediu um copo de gim. Foi atendido. Bebeu, beijou novamente a mulher e mandou-a sair da sala.
— Sirva bem o seu amo agora, Denis — disse. — Você já é um homem, com deveres de adulto diante de si.
— Servirei o rei tão bem quanto possa, pai — disse Denis, embora o pensamento de assumir as responsabilidades do pai o aterrasse. Seu rosto tosco e bondoso estava brilhante de lágrimas. Nos últimos três anos, Brandon e Denis trabalharam como mordomos do rei Tomás, e os encargos de Denis tinham sido mais ou menos os mesmos de antes, com Pedro; mas, de algum modo, nunca fora a mesma coisa... nem de longe a mesma coisa.
— A Tomás, sim — disse Brandon, depois sussurrou: — Mas se houver oportunidade de prestar um serviço ao seu primeiro amo, Denis, você não deve hesitar. Eu nunca...
Nesse instante, Brandon apertou o lado esquerdo do peito, esticou-se e morreu. Morreu onde tinha querido, em sua própria cadeira, ao pé do seu próprio fogo.
No quarto ano da prisão de Pedro — sua corda debaixo da pedra crescendo continuamente —, a família Staad desapareceu. O trono apossou-se do pouco que restara de suas terras, como fizera quando outras famílias nobres desapareceram. E, à medida que avançava o reinado de Tomás, aumentava o número de desaparecimentos.
Os Staad foram apenas um dos temas nas conversas de taverna numa semana agitada que incluiu quatro decapitações, um aumento de tributação sobre o comércio e a prisão de uma velha que passara três dias caminhando de um lado para o outro à porta do palácio, gritando que o neto fora preso e torturado por falar contra os Tributos sobre o Gado no ano anterior. Quando Pedro ouviu o nome Staad na conversa dos carcereiros, seu coração parou de bater por um momento.
A sucessão de fatos que levara ao sumiço dos Staad era agora do conhecimento de todos em Delain. O pêndulo oscilante do machado do carrasco ia reduzindo assustadoramente o contingente da nobreza. Muitos nobres morriam porque suas famílias tinham estado a serviço do reino por centenas — e até milhares — de anos, e eles não se podiam convencer de que um destino tão injusto pudesse vitimá-los. Outros, vendo inscrições sangrentas nas muralhas, fugiam. Entre estes estavam os Staad.
E começaram os boatos.
Contavam-se histórias com a mão cobrindo a boca, histórias dando a entender que aqueles nobres não se tinham simplesmente dispersado aos quatro ventos, mas que se tinham reunido algures, talvez nas matas profundas do extremo norte do reino, e planejavam a derrubada do trono.
Essas histórias chegavam até Pedro como o vento pela sua janela, como as correntes de ar por baixo da porta... Eram sonhos de um mundo mais vasto. A maior parte do tempo ele trabalhava na sua corda. Durante o primeiro ano, a corda cresceu 50 centímetros cada três semanas. No fim do ano ele tinha uma trança fina de uns nove metros, suficientemente forte — em teoria, pelo menos — para sustentar-lhe o peso. Mas não era a mesma coisa balançar-se de uma viga em sua cela e balançar-se acima de uma queda de 100 metros, e Pedro sabia disso. Estava, literalmente, apostando a vida naquela corda fina.
E nove metros por ano era muito pouco: seriam necessários mais de oito anos até que ele pudesse fazer a sua tentativa, e os rumores que ele ouvia em segunda mão vinham crescendo a ponto de se tornarem preocupantes. Acima de tudo, era o reino que tinha de ser preservado — não podia haver revolta, não podia haver caos. As injustiças tinham de ser corrigidas, mas com a lei, não com arcos, fundas, maças e porretes. Tomás, Leven Valera, Rolando, ele próprio, até Flagg empalideciam e se reduziam à insignificância perto disso. A lei tinha de prevalecer.
Como Anders Peyna, envelhecendo amargurado junto à sua lareira, o teria amado por isso!
Pedro resolveu que devia se esforçar para fugir o mais cedo possível. Assim, fez longos cálculos, operando os números na cabeça para não deixar vestígios. Repetiu-os muitas e muitas vezes, provando a si mesmo que não cometera enganos.
Em seu segundo ano no Obelisco, passou a arrancar dez fios de cada guardanapo; no terceiro ano, 15; no quarto, 20. A corda ia crescendo. Dezenove metros ao fim do segundo ano; 34 metros ao fim do terceiro; 52 depois do quarto.
Nesse ponto, a corda chegaria a 48 metros do solo.
Durante o último ano, Pedro passou a tirar 30 fios de cada guardanapo, e pela última vez os seus furtos se mostravam claramente — todos os guardanapos apareciam franjados nos quatro lados, como se atacados por ratos. Pedro receava angustiado que seus roubos fossem descobertos.
MAS NÃO FORAM descobertos, nem naquela época nem nunca. Jamais se levantou ao menos uma pergunta. Pedro passou noites intermináveis (ou assim lhe pareciam) a conjecturar e a recear o dia em que Flagg ouvisse algo errado, alguma nota falsa, e percebesse o que ele pretendia. Ele mandaria um subalterno, Pedro imagina, e começariam os interrogatórios. Pedro planejara tudo com angustiada precisão, e só fizera uma suposição errada — mas essa levara a uma hipótese (como em geral acontece com suposições erradas) e esta resultará num desperdício de tempo. Ele supôs que houvesse um número finito de guardanapos — uns mil talvez — e que eles repetidamente voltassem a ser usados. Suas reflexões sobre o estoque de guardanapos nunca foram além. Denis poderia ter-lhe dito que não era assim, e lhe poupado talvez uns dois anos de trabalho, mas Denis não foi consultado. A verdade era simples, embora surpreendente. Os guardanapos de Pedro não provinham de um suprimento de mil, nem de dois mil, nem de 20 mil; havia ao todo cerca de meio milhão daqueles velhos guardanapos que tinham cheiro de mofo.
Em um dos subterrâneos do castelo, havia um depósito, grande como um salão de baile, abarrotado de guardanapos... e mais guardanapos... nada além de guardanapos. Pedro sentia neles cheiro de mofo, e isso não era de espantar — a maior parte, coincidência ou não, datava de um tempo não muito posterior à prisão e morte de Leven Valera, e a existência de tantos guardanapos — coincidência ou não — era, indiretamente pelo menos, obra de Flagg. De um estranho modo, ele os tinha criado.
Aqueles tinham sido tempos negros em Delain. O caos que Flagg com tanto empenho desejava quase tomara conta do país. Valera fora afastado; o rei Alão, um louco, ascendera ao trono em seu lugar. Se tivesse vivido mais dez anos, o reino certamente ter-se-ia afogado em sangue... mas Alão foi fulminado por um raio num dia em que jogava cúbitos, no pátio gramado dos fundos, debaixo de chuva (já se vê que era maluco). Segundo alguns, foi um raio mandado pelos deuses. Sucedeu-o uma sobrinha, Kyla, que ficou conhecida como Kyla, a Boa... e de Kyla a linha de sucessão se estendera em linha reta ao longo de gerações até Rolando e os irmãos, cuja história vocês estão ouvindo. Foi Kyla, a Boa Rainha, que tirou o país do obscurantismo e da pobreza. Para isso, quase levou o Tesouro Real à bancarrota, mas sabia que o meio circulante — dinheiro vivo — é a seiva vital de um reino. Grande parte do dinheiro vivo de Delain se exaurira no curso do reinado extravagante e turbulento de Alão II, um rei que às vezes bebia sangue tirado das orelhas incisadas dos criados, e que teimava que era capaz de voar; um rei que mais se interessava em necromancia e magia do que em lucros e perdas e no bem-estar de seus vassalos. Kyla viu que seria necessária uma inundação maciça de amor e de florins para consertar os estragos do reinado de Alão, e cuidou de pôr novamente a trabalhar todas as pessoas fisicamente capazes de Delain, das mais novas às mais velhas.
Muitos dos cidadãos mais idosos da área do castelo foram empregados na fabricação de guardanapos — não porque fossem necessários (acho que já lhes falei sobre o que achava deles a maior parte da realeza e da nobreza em Delain), mas porque o trabalho era necessário. Eram mãos que tinham ficado ociosas por 20 anos ou mais em alguns casos, e trabalharam com vontade, tecendo em teares exatamente iguais ao da casa de boneca de Sacha... exceto no tamanho, é claro!
Durante dez anos esses velhos, mais de mil, fabricaram guardanapos e sacaram dinheiro sonante do Tesouro de Kyla pelo seu trabalho. Durante dez anos, pessoas um pouco mais jovens e mais aptas a andar os tinham transportado para o depósito frio e seco do subterrâneo do castelo. Pedro notou que alguns dos guardanapos que lhe levavam, além de cheirarem a mofo, estavam puídos de traças. O incrível, embora ele não soubesse, era que tantos deles estivessem ainda em tão boas condições.
Denis poderia ter-lhe dito que os guardanapos eram levados, usados só uma vez, recolhidos (menos os poucos fios que Pedro extraía de cada um) e simplesmente jogados fora. Afinal, por que não? Havia deles o suficiente para atender a 500 príncipes durante 500 anos... ou mais. Se Anders Peyna não fosse, além de rigoroso, um homem bom, poderia realmente ter havido um número finito de guardanapos. Mas ele sabia o quanto a mulher sem nome da cadeira de balanço precisava do trabalho e da ração que ele lhe valia (Kyla, a Boa, no seu tempo soubera a mesma coisa), e por isso a mantinha ocupada, ao mesmo tempo que cuidava que os florins de Beson continuassem a correr, depois que os Staad foram obrigados a fugir. Ela tornou-se uma peça de mobília à porta do quarto dos guardanapos, a velha e sua agulha aplicada em desfazer, em vez de fabricar. Ali passava os dias em sua cadeira de balanço, ano após ano, removendo centenas de milhares de brasões reais, e assim não é de espantar que nenhuma palavra sobre os pequenos furtos de Pedro chegasse aos ouvidos de Flagg.
Vejam vocês que, não fosse aquela única suposição equivocada e aquela única pergunta não formulada, Pedro poderia ter cumprido seu trabalho muito mais depressa. É certo que algumas vezes ele teve a impressão de que os guardanapos não estavam diminuindo de tamanho tão depressa quanto seria de esperar, mas nunca lhe ocorreu questionar sua idéia básica (ainda que vaga) de que os guardanapos que ele usava voltassem regularmente às suas mãos. Se ele tivesse feito a si mesmo essa única e simples pergunta...!
Mas talvez, no final, tenha sido até melhor assim.
Ou talvez não.
É mais uma coisa que cada um de vocês terá de concluir sozinho.
DEPOIS DE ALGUM TEMPO, Denis venceu seu temor de ser mordomo de Tomás. Afinal, este o ignorava quase totalmente, salvo quando às vezes passava-lhe uma descompostura por deixar de levar-lhe os sapatos (geralmente era o próprio Tomás que largava os sapatos em qualquer lugar, depois se esquecia de onde) ou quando insistia em que Denis tomasse um copo de vinho com ele. O vinho punha Denis de estômago enjoado, embora ele tivesse tomado gosto por um dedinho de gim no fim da tarde. Mesmo assim, ele bebia. Não precisava que o seu bom pai estivesse vivo para dizer-lhe que não se recusa beber com o rei quando se é convidado. E, às vezes, geralmente quando estava embriagado, Tomás proibia Denis de ir para casa e insistia em que ele passasse a noite com ele em seus aposentos. Denis imaginava — e com razão — que eram noites em que Tomás simplesmente se sentia só demais para suportar sua própria solitária companhia. Tomás se punha a desfiar longas lamentações desconexas, divagantes, sobre o quanto era difícil ser rei, como procurava ser justo e fazer o melhor que podia, e como todo o mundo, mesmo assim, por essa ou aquela razão, o detestava. Não raro chorava durante esses sermões, ou ria desvairadamente sem motivo, mas em geral adormecia em meio a uma defesa sem sentido desse ou daquele tributo. Às vezes, cambaleava até a cama, e Denis podia dormir no sofá. O mais comum era Tomás adormecer no sofá — ou apagar —, e Denis fazia sua cama desconfortável na pedra da lareira que esfriava. Era talvez a existência mais estranha que um mordomo de rei já conhecera, mas, naturalmente, a Denis parecia bem normal, pois ele jamais conhecera outra.
O fato é que Tomás o ignorava a maior parte do tempo. Outro fato, esse mais importante, é que Flagg o ignorava. Flagg esquecera por completo a parte desempenhada por Denis na sua trama que levara Pedro ao Obelisco. Denis não fora para ele mais que um instrumento — um instrumento que cumprira seu papel e podia ser descartado. Se ele pensasse em Denis, acharia que o instrumento fora bem recompensado: afinal, Denis era o mordomo do rei.
Mas certa noite, em princípios do inverno do ano em que Pedro fez 21 anos e Tomás 16, uma noite em que a corda fina de Pedro estava em vias de conclusão, Denis viu algo que mudou tudo — e é com o que Denis viu nessa noite fria que eu devo passar a narrar os eventos finais de minha história.
FOI UMA NOITE muito parecida com aquelas noites terríveis imediatamente antes e depois da morte de Rolando. O vento uivava num céu negro e gemia nos becos de Delain. Uma camada grossa de geada recobria os pastos dos Baronatos Centrais e as calçadas da cidade do castelo. Uma lua quase cheia surgia e se apagava entre nuvens sinistras, mas à meia-noite as nuvens tinham engrossado a ponto de ocultá-la por completo, e, às duas horas da madrugada, começara a nevar, quando Tomás acordou Denis ao sacudir a aldrava da porta entre a sala de estar e o corredor externo.
Denis ouviu o barulho e sentou-se, fazendo caretas com as cãibras nas costas e o formigamento nas pernas. Nessa noite, Tomás, em vez de se arrastar até a cama, adormecera no sofá e, assim, ao jovem mordomo coubera a pedra da lareira. O fogo estava quase apagado. O lado dele que ficara voltado para o fogo dava a sensação de assado; o outro congelara.
Olhou na direção do barulho... e por um instante o terror esfriou-lhe o coração e as entranhas. Por um instante, julgou ver à porta um fantasma e quase gritou. Depois, viu que era apenas Tomás em sua camisola branca.
— M... Majestade?
Tomás não tomou conhecimento dele. Tinha os olhos abertos, mas eles não olhavam para a aldrava; estavam arregalados e ausentes, e fitavam diretamente à frente sem ver. Denis se deu conta de repente de que o jovem rei estava como um sonâmbulo.
No momento em que Denis chegava a essa conclusão, Tomás pareceu compreender que a razão por que a aldrava não funcionava era que o ferrolho continuava corrido. Puxou-o e saiu da sala parecendo ainda mais espectral à luz mortiça dos castiçais do corredor. Houve um drapejar de barra de camisola, e ele sumiu da vista sobre pés descalços.
Por um momento, Denis ficou sentado e imóvel à beira da lareira, com as pernas cruzadas, o formigamento esquecido, o coração disparado. Fora, o vento atirava neve contra os vidros em losango das janelas e fazia ouvir um prolongado uivo de demônio. O que fazer?
Só havia uma coisa, é claro. O jovem rei era o seu amo. Tinha de segui-lo.
Talvez fosse a noite tormentosa que trouxera Rolando com tanta vividez à lembrança de Tomás, mas não necessariamente — na verdade, ele pensava no pai com freqüência. A culpa é como uma ferida, perpetuamente fascinante, e o culpado sente a compulsão de examiná-la e de escarafunchá-la, e por isso ela nunca acaba de sarar. Tomás tinha bebido muito menos do que costumava, mas, estranhamente, parecia a Denis mais embriagado do que nunca. Suas frases eram entrecortadas e truncadas, os olhos arregalados e fixos, mostrando muito do branco.
Em grande parte isso se devia à ausência de Flagg. Houvera rumores de que os nobres renegados — os Staad entre eles — tinham sido vistos reunidos na Floresta dos Confins, nos planaltos setentrionais do reino. Flagg comandava um regimento de soldados rijos e aguerridos à procura deles. Tomás tinha consciência de que acabara por depender completamente do sinistro feiticeiro... mas não compreendia inteiramente a natureza dessa dependência. Vinho em excesso já não era seu único vício. O sono costuma faltar aos que carregam segredos, e Tomás era afligido por cruéis insônias. Sem saber, tornara-se viciado nas poções soporíferas de Flagg. Ao conduzir os soldados para o norte, Flagg deixara com Tomás um suprimento da droga, mas esperava ficar fora não mais de três dias — quatro no máximo. Nos últimos três dias, Tomás dormira mal, ou não dormira nada. Sentia-se esquisito, nunca bem acordado, nunca dormindo bem. Lembranças de Rolando o perseguiam. Parecia-lhe ouvir a voz do pai exclamando no vento: Por que está aí a me olhar? Por que me olha desse jeito? Visões do vinho... visões da cara detestavelmente cordial de Flagg... visões do cabelo do pai pegando fogo... imagens assim expulsavam o sono e o deixavam de olhos bem abertos nas longas vigílias noturnas, enquanto o castelo dormia.
Quando, na oitava noite, Flagg não tinha regressado (ele e seus soldados estavam acampados a 80 quilômetros do castelo, e Flagg estava em disposição azeda: o único sinal dos nobres que encontraram foram marcas congeladas de cascos de cavalos que podiam datar de dias ou semanas), Tomás mandou chamar Denis. Foi mais tarde nessa noite, nessa oitava noite, que Tomás levantou do sofá e saiu em sua caminhada.
ASSIM, DENIS SEGUIU o rei, seu amo e senhor, pelos ventosos corredores de pedra, e se vocês me acompanharam, imagino que já sabem aonde Tomás, o Portador da Luz, foi parar.
A noite já se transformava em madrugada, e a tempestade continuava. Não havia ninguém nos corredores — pelo menos, Denis não viu ninguém. Se alguém passasse por ali, muito provavelmente teria fugido na direção oposta, talvez gritando, na certeza de ver dois fantasmas, o da frente numa longa camisola branca que podia facilmente ser tomada por uma mortalha, e o outro atrás numa jaqueta comum, mas descalço e com um rosto pálido o bastante para ser confundido com a face de um cadáver. É, imagino que qualquer um que os visse teria saído correndo, e faria longas orações antes de dormir... e mesmo as muitas rezas talvez não evitassem pesadelos.
Tomás parou na metade de um corredor pelo qual Denis raramente passava, e abriu uma porta recuada num desvão que Denis nunca chegara a notar. O jovem rei entrou num outro corredor (nenhuma camareira passou por eles com uma braçada de lençóis, como acontecera quando Flagg levara o príncipe por esse caminho alguns anos atrás; todas as camareiras honestas estavam de há muito em suas camas), e a certa altura Tomás estacou tão de repente, que Denis quase se chocou com ele.
Tomás olhou em torno para ver se tinha sido seguido, e seu olhar vazio passou direto por sobre a cabeça de Denis. Este sentiu um formigamento na pele e teve de fazer um grande esforço para não gritar. Nesse corredor quase esquecido, os castiçais de parede bruxuleavam e exalavam um cheiro pestilento de óleo, a luz era débil e sinistra. O jovem mordomo teve a sensação de que os seus cabelos se arrepiavam e se projetaram como espigas quando aqueles olhos ocos — como lâmpadas extintas, iluminadas somente pela lua — passaram por cima dele.
Ele estava ali, estava bem parado ali, e Tomás não enxergava; para Tomás, o mordomo estava esfumado.
Ah, eu tenho de fugir, parte do pensamento de Denis dizia num cochicho preocupado — mas dentro de sua cabeça o cochicho era como um grito. Ah, eu tenho de fugir, ele morreu, ele morreu dormindo e eu estou seguindo um cadáver ambulante! Mas então ouviu a voz do pai, de seu próprio pai, do pai morto, assoprando: Se houver oportunidade de prestar um serviço ao seu primeiro amo, Denis, você não deve hesitar.
Uma voz mais forte que as outras duas disse-lhe que era chegada a ocasião de servir. E Denis, um jovem e humilde servo que uma vez mudara os destinos de um reino ao achar um camundongo esturricado, talvez mudasse de novo ao manter-se firme no lugar. Apesar do terror que lhe gelava os ossos e lhe empurrava o coração para a garganta.
Numa voz grossa, estranha, completamente diferente da sua voz habitual (embora a Denis soasse obscuramente conhecida), Tomás disse:
— Quarta pedra a contar a partir da de baixo, marcada com um entalhe. Empurre. Depressa!
O hábito da obediência estava tão entranhado em Denis, que ele já se ia adiantando quando compreendeu que Tomás, em seu sonho, tinha dado uma ordem a si mesmo com a voz de outrem. Antes que Denis avançasse um passo, Tomás empurrou a pedra, que deslizou cerca de oito centímetros. Ouviu-se um clique. Denis ficou de queixo caído quando um pedaço da parede girou para dentro. Tomás empurrou mais, e Denis entendeu que aquilo era uma enorme porta secreta. Portas secretas levavam-no a pensar em nichos secretos, e estes levavam-no a pensar em camundongos queimados. De novo ele sentiu ímpetos de correr, mas resistiu. Tomás entrou. Por um momento, foi apenas uma camisola brilhando no escuro, uma camisola sem ninguém dentro; a parede de pedra fechou-se outra vez. A ilusão foi perfeita.
Denis ficou ali parado mudando o peso do corpo de um pé descalço e gelado para o outro pé descalço e gelado. O que fazer agora?
Outra vez pareceu-lhe ouvir a voz do pai, impaciente agora, não tolerando recusa. Vá atrás, seu coisa-à-toa! Vá, e depressa! Este é o momento! Vá!
Mas, pai, o escuro...
Pareceu-lhe sentir um tapa ardido, e Denis pensou histericamente: Mesmo morto, você tem uma direita danada de forte, pai! Está bem, está bem, estou indo!
Contou quatro pedras acima da pedra entalhada e empurrou. A porta abriu-se uns dez centímetros para a escuridão.
No silêncio lúgubre do corredor, ouviu-se um leve som de castanholas — um som como de ratos de pedra. Depois de um momento, Denis se deu conta de que o som era de seus próprios dentes rangendo.
Ah, pai, estou com medo, gemeu... depois, seguiu Tomás no escuro.
A 80 QUILÔMETROS DE DISTÂNCIA, enrolado em cinco cobertores para defender-se do frio lancinante e do vento que bramia, Flagg gritou enquanto dormia, no exato momento em que Denis seguia o rei na passagem secreta. Num outeiro não longe dali, lobos uivaram em uníssono com o grito. O soldado que dormia mais próximo de Flagg, à sua esquerda, morreu instantaneamente de ataque do coração, sonhando que um grande leão estava a ponto de engoli-lo. O que dormia à direita, ao acordar de manhã, descobriu que estava cego. Às vezes, mundos estremecem e giram dentro dos seus eixos, e essa foi uma dessas vezes. Flagg sentiu isso, mas não compreendeu. A salvação do que é bom está somente nisso: em horas de grande conseqüência, os maus estranhamente às vezes ficam cegos. De manhã, ao acordar, o mago do rei lembrou-se de ter tido um sonho mau, talvez fruto de seu passado longínquo, mas não se lembrou de como fora o sonho.
NO INTERIOR DA PASSAGEM secreta, a escuridão era total e absoluta, o ar parado e seco. Vindo de algum ponto à frente, Denis ouviu um som horrível, dolorido.
O rei estava chorando.
Ouvindo aquilo, Denis perdeu um pouco do medo. Sentiu um grande assombro e uma grande piedade. Tomás sempre lhe parecera infeliz. Como rei, engordara e criara espinhas, estava sempre macilento, e as mãos lhe tremiam por causa do excesso de vinho na noite anterior; em geral tinha mau hálito. As pernas de Tomás já tinham começado a se arquear, e a menos que Flagg estivesse ao seu lado, ele tinha a tendência de andar com a cabeça baixa e o cabelo caindo na cara.
Denis avançou às apalpadelas, os braços estendidos para a frente. O choro foi ficando mais perto no escuro... e de repente o escuro já não era tão completo. Ouviu um leve ruído de algo deslizando e vagamente pôde ver Tomás. Estava parado no fim do corredor, e uma leve claridade cor de âmbar saía de dois pequenos buracos no escuro. A Denis os buracos pareceram curiosamente um par de olhos flutuantes.
No momento em que Denis começava a achar que afinal tudo acabaria bem, que provavelmente ele sobreviveria àquela insólita excursão noturna, Tomás gritou. Gritou tão alto, que deu a impressão de que ia romper as cordas vocais. A força abandonou as pernas de Denis e ele caiu de joelhos, as mãos apertando a boca para impedir os seus próprios gritos, e agora lhe parecia que aquela via secreta era povoada de fantasmas, fantasmas que, como estranhos morcegos voando, a qualquer momento poderiam enredar-se em seu cabelo; ah, sim!, a Denis o lugar parecia povoado de mortos sem repouso, e talvez fosse mesmo; talvez fosse mesmo.
Ele quase desmaiou... quase... mas não de todo.
De algum lugar abaixo deles veio o barulho de cães latindo e ele percebeu que os dois estavam em cima do canil do rei. Os poucos cães de Rolando que ainda estavam vivos nunca mais tinham sido soltos. Eles eram os únicos seres vivos — além do próprio Denis — que tinham ouvido aqueles gritos selvagens. Mas os cachorros eram reais, não fantasmas, e Denis continuou a pensar em como um homem afogado poderia agarrar-se a um mastro flutuante.
Algum tempo depois, ele percebeu que Tomás não estava somente gritando — ele estava gritando palavras. A princípio, Tomás só conseguiu formar uma frase, que repetiu várias vezes: Não beba o vinho! Não beba o vinho! Não beba o vinho!
TRÊS NOITES DEPOIS, alguém bateu suavemente na porta da sala de estar de uma fazenda no Baronato Central, uma fazenda próximo de onde os Staad moraram até pouco tempo atrás.
— Entre! — Anders Peyna resmungou. — É melhor que esteja tudo bem, Arlen!
Arlen envelhecera desde que Beson apareceu na casa de Peyna com um bilhete de Pedro. Entretanto, as mudanças nele foram suaves, se comparadas com as mudanças ocorridas em Peyna. Os cabelos do ex-magistrado-geral quase desapareceram. Sua magreza tornou-se desoladora. A perda de cabelo e de peso, entretanto, foi pequena se comparada com as modificações ocorridas em seu rosto. A princípio ele fora severo. Agora ele era sombrio. Olheiras escuras destacavam-se em volta dos olhos. A marca do desespero estava em seu rosto e havia uma boa razão para isso. Ele viu tudo o que ele defendeu durante sua vida arruinar-se... e essa ruína ocorreu com uma certa facilidade e num espantoso e curto espaço de tempo. Eu suponho que todos os homens inteligentes saibam o quanto coisas como lei, justiça e civilização são realmente frágeis, mas isso não é algo em que eles pensem espontaneamente, já que perturba o sossego e mexe com o apetite de qualquer um.
Ver o trabalho de sua vida ser destruído como um brinquedo de criança foi muito difícil, mas houve outra coisa ainda pior. Foi saber que Flagg não conseguiu sozinho executar todas as mudanças ocorridas em Delain. Peyna ajudou-o. Quem mais viu Pedro ser levado a um julgamento que talvez tenha sido tão acelerado? Quem mais estava tão convencido da culpa de Pedro, não tanto pelas evidências, mas pelas lágrimas do rapaz?
Desde o dia em que Pedro foi levado ao topo do Obelisco, a grande construção na Praça do Obelisco esteve manchada de uma estranha cor de ferrugem. Nem mesmo a chuva mais forte conseguiu deixá-la limpa. E Peyna acreditou que ele pudesse detectar aquela mancha avermelhada saindo da construção, saindo para cobrir a praça, as ruas do mercado, as alamedas. Em seus sonhos agitados, Peyna viu córregos de sangue traçando as linhas do calçamento e escorrendo pelas sarjetas. Ele viu as carpas boiando no fosso de barriga para cima, envenenadas pelo sangue que jorrava dos esgotos e que saía da própria terra. Ele viu o sangue surgir em todo lugar, manchando campos e florestas. Nesses sonhos infelizes, até mesmo o sol começava a parecer um olho esbugalhado, um olho agonizante.
Flagg o deixara viver. Nas tavernas comentava-se em segredo que ele chegara a um acordo com o bruxo — que talvez tivesse dado a Flagg os nomes de alguns traidores, ou que Peyna talvez “soubesse algo” de Flagg, algum segredo que viria à tona, se Peyna morresse de repente. Isso, é claro, era bobagem. Flagg não era homem de deixar-se ameaçar — nem por Peyna nem por ninguém. Não havia segredos. Não houvera acordos ou barganhas. Flagg simplesmente o deixara vivo... e Peyna sabia por quê. Morto, provavelmente ele estaria em paz. Vivo, era-lhe dado contorcer-se no patíbulo de sua própria consciência culpada. Era-lhe dado assistir às terríveis mudanças que Flagg promovia em Delain.
— Sim? — perguntou ele, irritado. — O que é, Arlen?
— Está aí um menino, Excelência. Diz que precisa vê-lo.
— Mande-o embora — disse Peyna, taciturnamente. Percebia que um ano atrás teria ouvido as batidas na porta da frente, mas agora, ao que parecia, estava mais surdo cada dia que passava: — Eu não vejo ninguém depois das nove, você sabe. Muita coisa mudou, mas não isso.
Arlen pigarreou.
— Eu conheço o menino. É Denis, filho de Brandon. É o mordomo do rei que está aí.
Peyna olhou para Arlen, mal acreditando no que ouvia. Talvez estivesse ensurdecendo ainda mais depressa do que imaginava. Pediu a Arlen que repetisse, e as palavras soaram iguais.
— Eu o verei. Mande-o entrar.
— Muito bem, Excelência. Arlen deu meia-volta para sair.
A semelhança com a noite em que Beson viera com a carta de Pedro — incluindo até mesmo o vento gelado que uivava do lado de fora — ocorria agora a Peyna vivamente.
— Arlen — chamou. Arlen voltou-se.
— Excelência?
O canto direito da boca de Peyna ergueu-se ligeiramente numa sombra de sorriso.
— Tem certeza de que não é um anãozinho?
— Absoluta, Excelência — Arlen respondeu, e o canto esquerdo de sua boca tremeu um bocadinho. — Não existem mais anões no mundo conhecido. Foi o que disse a minha mãe.
— Obviamente, era uma senhora de bom senso e discernimento claro, dedicada a educar convenientemente o filho, e não pode ser responsabilizada por falhas inerentes ao material que teve de moldar. Traga o menino aqui diretamente.
— Sim, Excelência. A porta fechou-se.
Peyna voltou a olhar para o fogo e esfregou as velhas mãos deformadas pela artrite num gesto de desacostumada agitação. O mordomo de Tomás. Aqui. Agora. Por quê?
Mas não tinha sentido especular: a porta se abriria num momento, e a resposta entraria a caminhar por ela na forma de um menino-homem que estaria a tremer de frio, talvez mesmo ameaçado de congelamento.
Denis teria achado bem mais fácil chegar até Peyna, se este ainda estivesse em sua bela casa na cidade do castelo, mas a casa lhe fora confiscada em razão de “impostos devidos” em seguida à sua renúncia. Somente as poucas centenas de florins que economizara no curso de 40 anos permitiram-lhe comprar essa desabrigada fazendola e continuar pagando Beson. Tecnicamente, estava situada nos Baronatos Centrais, mas mesmo assim ficava vários quilômetros a oeste do castelo... e o tempo estava muito frio.
No corredor além da porta, ouviu o murmúrio de vozes que se aproximavam. Agora. Agora a resposta entraria pela porta. De repente um sentimento absurdo — aquele sentimento de esperança, como um raio de luz forte iluminando uma caverna escura — voltou-lhe. Agora a resposta entrará pela porta, pensou, e por um momento surpreendeu-se a acreditar que era verdade.
Ao pegar o seu cachimbo predileto do suporte ao lado dele, Anders Peyna notou que suas mãos tremiam.
O MENINO ERA NA VERDADE um homem, mas o emprego do termo por Arlen não fora injustificado — pelo menos nessa noite. Estava gelado, Peyna viu, mas também sabia que o frio sozinho não faz ninguém tremer como Denis tremia.
— Denis! — disse Peyna, inclinando-se vivamente para a frente (e não ligando à pontada nas costas que o movimento súbito causara). — Aconteceu algo ao rei?
Imagens horríveis, medonhas possibilidades encheram de repente a velha cabeça de Peyna — o rei morto, ou de excesso de vinho, ou possivelmente por suas próprias mãos. Todos em Delain sabiam que o jovem rei sofria uma profunda depressão.
— Não... isto é... sim... mas não... não do modo que imagina... do modo que eu penso que imagina...
— Aproxime-se do fogo — disse Peyna bruscamente. — Arlen, não fique aí feito um tonto! Vá buscar um cobertor! Dois! Embrulhe esse rapaz antes que ele morra de se sacudir como um epiléptico.
— Sim, Excelência — respondeu Arlen.
Nunca fora tonto na vida — sabia disso, e Peyna também sabia. Mas reconheceu a gravidade da situação e saiu às pressas. Tirou os dois cobertores de sua própria cama — os outros únicos dois nessa bendita casinhola de campônio eram os de Peyna — e voltou com eles. Levou-os até onde estava Denis, encolhido tão perto do fogo quanto podia sem se incendiar. A camada de gelo que lhe cobria o cabelo começara a derreter e a escorrer-lhe pelo rosto como lágrimas. Denis enrolou-se nos cobertores.
— Agora, chá. Chá forte. Uma xícara para mim, um bule para o rapaz.
— Excelência, nós só temos meia caixa de resto em toda a...
— Para o diabo o que temos de resto! Uma xícara para mim, um bule para o rapaz.
— Pensou um pouco. — E faça uma xícara para você, Arlen, depois venha cá e escute.
— Excelência? — Nem toda a sua compostura pôde impedir Arlen de mostrar-se francamente estupefato ouvindo isso.
— Haja paciência! — rugiu Peyna. — Quer que eu acredite que está tão surdo quanto eu estou ficando? Vamos com isso!
— Sim, Excelência — disse Arlen, e foi preparar o último chá que havia na casa.
PEYNA NÃO ESQUECERA tudo o que sempre soubera da arte sutil de interrogar; por sinal esquecera muito pouco disso, e de tudo o mais. Passara longas noites de vigília em que desejara poder esquecer certas coisas.
Enquanto Arlen preparava o chá, Peyna aplicou-se à tarefa de pôr aquele jovem assustado — não, apavorado — à vontade. Perguntou pela saúde da mãe de Denis. Perguntou se os problemas dos esgotos que ultimamente tanto incômodo tinham causado ao castelo foram resolvidos. Perguntou a opinião de Denis sobre os plantios da primavera. Evitou quaisquer assuntos que parecessem melindrosos... e aos poucos, enquanto se aquecia, Denis foi-se acalmando.
Quando Arlen serviu o chá quente, forte e fumegante, Denis emborcou meia xícara de um gole, fez uma careta, depois virou o resto. Impassível como sempre, Arlen serviu-lhe mais.
— Devagar, meu jovem — disse Peyna, finalmente acendendo o cachimbo. — Devagar é a palavra para chá quente e cavalos teimosos.
— Frio. Pensei que ia gelar no caminho para cá.
— Você veio a pé? — Peyna não pôde disfarçar o seu espanto.
— Vim. Mandei minha mãe dizer aos criados que estava em casa com gripe. Por uns dias, isso vai manter todo mundo afastado, já que a gripe é tão contagiosa nesta época do ano... é o que eu espero. Vim a pé. Todo o caminho. Não me arrisquei a pegar uma carona. Não queria ser lembrado. Não sabia que era tão longe. Se soubesse, talvez tivesse pegado uma carona. Saí às três horas.
Lutou contra as próprias emoções, engoliu em seco várias vezes, por fim explodiu:
— E não vou voltar, nunca mais! Eu vi o jeito como ele me olha desde que voltou! De esguelha, com os olhos apertados e cheios de maldade! Ele nunca olhou para mim desse jeito... aliás, antes nunca olhava para mim! Ele sabe que vi algo! Sabe que ouvi qualquer coisa! Não sabe o que, mas sabe que há qualquer coisa! Ele ouve em minha cabeça, como eu ouço o sino tocando na igreja dos Grandes Deuses! Se eu ficar lá, ele vai arrancá-lo de mim! Eu sei que vai!
Peyna fitava o rapaz por baixo das sobrancelhas franzidas, procurando ordenar aquela incrível enxurrada de declarações. Denis tinha lágrimas nos olhos.
— Estou falando de F...
— Mais baixo, Denis — disse Peyna. A voz era mansa, mas os olhos não. — Sei de quem está falando. Melhor não dizer o nome.
Denis encarou-o com muda e ingênua gratidão.
— É melhor que você me conte o que veio contar-me — disse Peyna.
— Sim, claro, está bem.
Denis hesitou por um momento, tentando recobrar o autocontrole e organizar as idéias. Peyna esperou impassível, procurando acalmar sua crescente excitação.
— Foi assim — Denis finalmente começou. — Há três noites, Tomás me chamou para ficar com ele, como faz às vezes. E, à meia-noite, ou por aí...
DENIS CONTOU O QUE vocês já ouviram, e, diga-se em seu louvor, não escondeu o terror que sentira, nem tentou justificá-lo.
Enquanto ele falava, o vento gemia lá fora, e enquanto o fogo da lareira amortecia, os olhos de Peyna se acendiam com intensidade cada vez maior. A situação, ele refletia, era muito pior do que imaginara. Não apenas Pedro envenenara o rei como Tomás vira o fato acontecer.
Não era de admirar que o reizinho se apresentasse tão acabrunhado e deprimido. Talvez os rumores que passavam nas tavernas, os rumores de que Tomás já estava mais do que meio louco, não fossem algo tão infundado como Peyna acreditara.
Mas quando Denis deu uma pausa para beber mais chá (Arlen derramou-lhe na xícara a borra amarga do fundo do bule), Peyna recuou daquela idéia. Se Tomás tivesse visto Pedro envenenar Rolando, por que Denis estaria aqui agora... e em tão mortal terror de Flagg
— Você ouviu outras coisas — disse Peyna.
— Sim, Excelência — disse Denis. — Tomás... ele ficou delirando um bom tempo. Nós ficamos fechados no escuro uma porção de tempo.
Denis esforçava-se por ser mais claro, mas não encontrava palavras para exprimir o horror daquele desvão escuso, com Tomás gritando na treva diante dele e os poucos cães restantes do rei latindo embaixo. Não encontrava palavras para descrever o cheiro do lugar — um cheiro de segredos que tinham azedado como leite derramado no escuro. Não encontrava palavras para dar idéia de seu pavor crescente de que Tomás tivesse enlouquecido enquanto estivera nas garras de seu sonho.
Ele gritara o nome do mago do rei um sem-número de vezes; implorara ao rei que olhasse no fundo do copo e visse o camundongo simultaneamente calcinado e afogado no vinho. Por que me olha desse jeito?, tinha gritado. E depois: Trouxe-lhe um copo de vinho, meu rei, para demonstrar-lhe que eu também o amo. E por fim bradara palavras que Pedro teria reconhecido, palavras velhas de mais de 400 anos: Foi Flagg! Flagg! Foi Flagg!
Denis apanhou a xícara, levou-a a meio caminho da boca e, em seguida, deixou-a cair. A xícara espatifou-se na pedra da lareira.
Os três ficaram olhando os cacos de louça.
— E depois? — perguntou Peyna numa voz enganosamente mansa.
— Durante uma porção de tempo, nada — disse Denis, hesitante. — Meus olhos tinham... tinham-se habituado ao escuro, e eu pude vê-lo, mais ou menos. Ele estava dormindo... dormindo em frente àqueles dois buraquinhos, com o queixo no peito e os olhos fechados.
— E ficou assim por quanto tempo?
— Excelência, eu não sei. Os cães já se tinham calado. E eu acho que... eu...
— Você também cochilou um pouco? É provável, Denis.
— Depois, mais tarde, pareceu que ele acordava. Abriu os olhos, pelo menos. Fechou os painéis pequenos e aí ficou escuro outra vez. Eu ouvi que ele se movia e encolhi as pernas para que ele não tropeçasse em mim... a camisola dele... roçou-me o rosto...
Denis fez uma careta lembrando uma sensação como de teias de aranha arrastando-se num sussurro em sua bochecha esquerda.
— Eu fui atrás dele. Ele saiu... eu continuei a acompanhá-lo. Ele fechou a porta, de modo que ela se confundiu outra vez com a parede de pedra. Voltou para o aposento, e eu atrás.
— Não encontraram ninguém? — Peyna perguntou tão abruptamente que Denis deu um salto. — Ninguém absolutamente?
— Não. Não, Excelência. Ninguém.
— Ah. — Peyna relaxou. — Isso é muito bom. E aconteceu algo mais essa noite?
— Não, Excelência. Ele foi para a cama e dormiu como um morto. — Denis hesitou, depois acrescentou: — Quanto a mim, não preguei olho, e depois disso também não dormi muito.
— E de manhã ele...?
— Não se lembrava de nada.
Peyna resmungou. Juntou as pontas dos dedos e olhou para o fogo que morria.
— E você voltou àquela passagem? Curiosamente, Denis respondeu com uma pergunta:
— O senhor teria voltado, Excelência?
— Teria — disse Peyna secamente. — A questão é: você voltou?
— Voltei.
— Claro que voltou. Foi visto?
— Não. Uma camareira passou por mim no corredor. A lavanderia fica daquele lado, eu acho. Senti cheiro de sabão, como o que a mamãe usa. Quando ela saiu, eu contei quatro pedras acima da pedra marcada e entrei.
— Para ver o que Tomás tinha visto.
— Sim, Excelência.
— E viu?
— Sim, Excelência.
— E o que era? — perguntou Peyna, curioso. — Quando você correu os painéis, o que viu?
— Excelência, eu vi a sala de estar do rei Rolando — disse Denis. — Com todas aquelas cabeças nas paredes. E... Excelência... — Apesar do calor do fogo que morria, Denis estremeceu. — Todas aquelas cabeças... parecia que estavam olhando para mim.
— Mas havia uma cabeça que você não viu — disse Peyna.
— Não, Excelência, eu vi tod... — Denis interrompeu-se, arregalando os olhos. — Niner! — arquejou. — Os buraquinhos... — Calou-se, com os olhos agora arregalados e redondos como pires.
No interior da casa, fez-se silêncio outra vez. Lá fora, o vento de inverno gemia e lamuriava. E a quilômetros dali, Pedro, o legítimo rei de Delain, encurvado sobre um pequeno tear nas alturas do céu, tecia uma corda que de tão fina quase não se via.
Por fim, Peyna soltou um profundo suspiro. Do seu lugar na pedra da lareira, Denis tinha os olhos levantados para ele, suplicantes... esperançosos... medrosos. Peyna inclinou-se para a frente devagar e tocou-lhe o ombro.
— Você fez bem em vir aqui, Denis, filho de Brandon. Fez bem em criar um motivo para sua ausência... bastante plausível, me parece. Vai sentir frio, mas penso que dormirá melhor do que tem dormido ultimamente. Estou enganado?
Denis sacudiu a cabeça lentamente uma vez só; uma lágrima escapou-lhe do olho direito e escorreu devagar pela sua face.
— E sua mãe não sabe nada do motivo que o levou a ausentar-se?
— Não.
— Então, há boas probabilidades de que ela não fique preocupada. Arlen vai levá-lo para cima. Esses cobertores são dele, se não me engano, e você tem que devolvê-los. Mas lá em cima há palha e está limpa.
— Eu dormirei bem com um só cobertor, Excelência — disse Arlen.
— Nada disso! O sangue jovem corre quente mesmo no sono, Arlen. O seu já esfriou. E você pode precisar dos cobertores... caso anões e duendes venham visitá-lo em sonho.
Arlen sorriu um pouco.
— De manhã falaremos mais, Denis... mas você vai passar algum tempo sem ver sua mãe; tenho de dizer-lhe isso, embora, pela sua cara, eu desconfie que você já sabe que possivelmente seria pouco saudável voltar a Delain.
Denis tentou sorrir, mas tinha os olhos reluzentes de medo.
— Quando vim para cá, estava pensando em outras coisas mais além de gripe, essa é que é a verdade. Mas agora coloquei em risco a saúde dos senhores, não é?
Peyna sorriu secamente.
— Eu sou velho, e Arlen também. A saúde dos velhos nunca é muito boa. Às vezes, isso os torna mais cuidadosos do que deveriam ser... mas, às vezes, os leva a enfrentar grandes riscos. — Especialmente, pensou, se eles têm muito para expiar. — Falaremos mais de manhã. Agora, você merece o seu repouso. Por favor, Arlen, ilumine a escada para ele.
— Sim, Excelência.
— Depois volte aqui.
— Sim, Excelência.
Arlen conduziu o exausto Denis para fora da sala, deixando Anders Peyna a meditar junto ao fogo quase extinto.
QUANDO ARLEN VOLTOU, Peyna disse calmamente:
— Temos de planejar algumas coisas, Arlen, mas talvez convenha que você arranje para nós uma gota de vinho. É melhor esperar que o rapaz esteja dormindo.
— Excelência, ele dormiu antes que sua cabeça tocasse o feno que ele juntou para fazer o travesseiro.
— Muito bem. Mas arranje uma gota de vinho assim mesmo.
— Uma gota é tudo o que há para arranjar.
— Bom. Assim não teremos de partir com a cabeça pesada amanhã, não é mesmo?
— Excelência?
— Arlen, amanhã nós saímos daqui, nós três, para o norte. Eu sei e você sabe. Denis disse que há gripe em Delain... e é verdade; e há também alguém que quer pôr as mãos em nós, se puder. Vamos partir por motivos de saúde.
Arlen assentiu com a cabeça devagar.
— Seria um crime deixar aquele bom vinho para o coletor de impostos. Portanto, vamos bebê-lo... e depois meter-nos na cama.
— Como queira, Excelência. Os olhos de Peyna faiscaram.
— Mas, você, antes de ir para a cama, vai subir ao sótão e apanhar o cobertor que deixou com o menino, contra as minhas claras e estritas instruções.
Arlen olhou para Peyna, boquiaberto. Peyna imitou-lhe a cara com incrível perfeição. E, pela primeira e última vez em sua função de mordomo de Peyna, Arlen riu alto.
PEYNA DEITOU-SE NA CAMA, mas não conseguiu dormir. Não foi o barulho do vento que o manteve desperto, mas o de gargalhadas frias vindo de dentro da sua própria cabeça.
Não mais podendo suportar as gargalhadas, levantou-se, voltou para a sala de estar e sentou-se junto às cinzas da lareira que esfriava, os cabelos brancos flutuando em pequenas nuvens ao redor do crânio. Sem se dar conta de seu aspecto cômico (mesmo que tivesse percebido, não teria se importado), ficou ali sentado, enrolado em seus cobertores, como o índio mais velho do mundo, a fitar o fogo morto.
O orgulho precede a queda, tinha-lhe dito a mãe quando ele era pequeno, e Peyna entendera. O orgulho é uma farsa que mais cedo ou mais tarde fará rir ao estranho que mora dentro de você, ela também dissera, e isso ele não tinha compreendido... mas entendia agora. Esta noite o estranho dentro dele ria muito alto. Tão alto que não o deixara dormir, embora o dia seguinte devesse ser longo e difícil.
Peyna era plenamente capaz de avaliar a ironia de sua posição. A vida inteira servira à idéia da lei. Idéias como “fuga da prisão” e “rebelião armada” o horrorizavam. E ainda o horrorizavam, mas certas verdades tinham de ser encaradas. Que o mecanismo da revolta passara a existir em Delain, por exemplo. Peyna sabia que os nobres que tinham fugido para o norte chamavam a si mesmos “exilados”, mas também sabia que aos poucos estavam chegando muito perto de intitular-se “rebeldes”. E se quisesse evitar que a revolta acontecesse, talvez tivesse que usar o mecanismo da rebelião para ajudar um prisioneiro a fugir do Obelisco. Essa era a piada que fazia rir ao estranho dentro dele, e rir tão alto que dormir não era nem uma remota possibilidade.
Ações como as que ele agora considerava corriam em oposição ao que acreditara a vida inteira, mas de qualquer modo ele as levaria avante, ainda que lhe custasse a vida (o que era bem possível). Pedro tinha sido falsamente condenado. O verdadeiro rei de Delain não estava no trono, mas confinado numa cela fria de dois compartimentos no topo do Obelisco. Se fosse preciso aplicar forças ilegais para pôr tudo nos eixos novamente, assim seria. Mas...
— Os guardanapos — Peyna murmurou. Incessantemente, seu pensamento voltava a eles. — Antes de recorrermos à força das armas para libertar o legítimo rei e entroná-lo, a questão dos guardanapos tem de ser investigada. Denis... e o pequeno Staad, talvez... é...
— Excelência? — Arlen falou atrás dele. — Está se sentindo mal?
Arlen ouvira o amo levantar-se, como os mordomos quase sempre ouvem.
— Estou me sentindo mal, sim — disse Peyna, sombrio. — Mas não é nada que o meu médico possa curar, Arlen.
— Desculpe, Excelência.
Peyna voltou-se para Arlen e fixou os olhos fundos e brilhantes no mordomo.
— Antes de nos transformarmos em marginais, eu quero saber por que ele pediu a casa de boneca da mãe... e guardanapos com as refeições.
— VOLTAR AO CASTELO? — Denis perguntou na manhã seguinte, numa voz rouca que era quase um cochicho. — Voltar para onde ele está?
— Se achar que não pode, não insistirei — disse Peyna. — Mas você conhece bem o castelo, imagino, o suficiente para não cruzar o caminho dele. Isto é, se souber um modo de entrar sem ser visto. Não seria bom ser visto. Você parece muito lépido para um rapaz que imaginam doente em casa.
O dia estava frio e radioso. A neve que cobria as extensas colinas onduladas dos Baronatos Centrais refletia um esplendor adamantino que com pouco tempo fazia marejar a vista. Ao meio-dia provavelmente estarei cego, e será bem feito para mim, pensou Peyna, resmungando. O estranho dentro dele parecia achar a perspectiva absolutamente hilariante.
O castelo de Delain era visível a distância, azul e irreal no horizonte, parecendo com suas torres e muralhas uma ilustração de um livro de contos de fadas. Denis, porém, não parecia um jovem herói em busca de aventuras. Seus olhos estavam cheios de medo, e o rosto mostrava uma expressão de alguém que escapou de uma cova de leões... só para ser lembrado de que esqueceu a merenda e precisa voltar para apanhá-la, mesmo tendo perdido o apetite.
— Pode haver uma maneira de entrar — disse ele. — Ma se ele me fareja, a maneira de eu entrar ou o lugar onde me esconda não vai fazer diferença. Se ele me farejar, acabará comigo.
Peyna concordou. Não queria aumentar o medo do rapaz, mas, naquela situação, nada menos que a verdade poderia adiantar-lhes.
— É como você diz.
— Mesmo assim me pede que vá?
— Se você puder, ainda peço.
Durante um café-da-manhã frugal, Peyna explicou a Denis o que queria saber e apresentou alguns métodos que podiam ser empregados para obter a informação. Denis balançou a cabeça, não em recusa, mas em perplexidade.
— Guardanapos — disse. Peyna confirmou.
— Guardanapos.
O olhar aflito de Denis contemplou de novo o longínquo castelo de conto de fadas no horizonte de sonho.
— Quando estava morrendo, meu pai disse-me que se eu tivesse oportunidade de prestar um serviço ao meu primeiro amo, deveria prestá-lo. Pensei que já o tivesse feito vindo aqui. Mas se é preciso voltar...
Arlen, que estivera ocupado em fechar a casa, juntou-se a eles.
— A sua chave da casa, por favor, Arlen — disse Peyna. Arlen entregou-a, e Peyna passou-a a Denis.
— Arlen e eu vamos para o norte juntar-nos aos... — Peyna hesitou e pigarreou — aos exilados — completou. — Eu lhe dei a chave de Arlen desta casa. Quando chegarmos ao acampamento deles, eu darei a minha a uma pessoa que você conhece, se ela estiver lá. Acho que estará.
— Quem? — perguntou Denis.
— Ben Staad.
O semblante soturno de Denis iluminou-se como um sol.
— Ben? Ben está com eles?
— Acho possível que esteja — disse Peyna.
Na verdade, sabia perfeitamente bem que a família Staad inteira estava com os exilados. Mantinha os ouvidos bem abertos, e não estava tão surdo que não percebesse os muitos movimentos no reino.
— E vai mandá-lo para cá?
— Se ele quiser vir, sim, é o que pretendo — respondeu Peyna.
— Para fazer o quê? Excelência, eu ainda não estou vendo tudo claramente.
— Nem eu — disse Peyna, parecendo zangado. Estava mais que zangado; estava desnorteado... — Eu passei a minha vida inteira fazendo certas coisas porque eram lógicas, e não fazendo outras porque não eram. Tenho visto o que acontece quando as pessoas agem por intuição, ou por razões ilógicas. Às vezes, os resultados são ridículos e embaraçosos; o mais das vezes são simplesmente horríveis. No entanto, aqui estou eu a me portar como um vidente maluco com uma bola de cristal.
— Não entendo, Excelência.
— Nem eu, Denis. Nem eu. Sabe que dia é hoje?
Denis piscou diante dessa súbita mudança de rumo, mas respondeu bem rápido.
— Sei. Terça-feira.
— Terça-feira. Bom. Agora vou fazer-lhe uma pergunta que a minha maldita intuição me diz ser muito importante. Se não souber a resposta, ou se não tiver certeza, pelo amor de Deus, diga francamente! Está pronto para a pergunta?
— Sim, Excelência — disse Denis, mas não estava muito certo. Os olhos azuis e penetrantes de Peyna debaixo do agreste emaranhado das suas sobrancelhas brancas deixavam Denis nervoso. Provavelmente seria uma pergunta difícil. — Isto é, acho que sim.
Peyna fez a pergunta, e Denis respirou aliviado. Não tinha muito sentido para ele — era apenas mais uma bobagem acerca de guardanapos, tanto quanto lhe era dado perceber —, mas pelo menos ele sabia a resposta, e a deu.
— Tem certeza? — insistiu Peyna.
— Sim, Excelência.
— Bom. Então vou dizer-lhe o que quero que você faça.
Peyna falou a Denis durante algum tempo, os três parados no frio ensolarado à frente do “retiro de repouso” a que o velho magistrado nunca mais retornaria. Denis escutou compenetrado, e quando Peyna pediu-lhe que repetisse as instruções, ele o fez com perfeição.
— Bom — disse Peyna. — Muito, muito bom.
— Estimo que esteja satisfeito, Excelência.
— Nada nesta história me deixa satisfeito, Denis. Nada mesmo. Se Ben Staad estiver com os infelizes proscritos na Floresta dos Confins, eu pretendo retirá-lo da sua relativa segurança e mandá-lo para o perigo, porque talvez ele possa ser útil ao príncipe Pedro. Estou mandando você de volta ao castelo porque o meu coração me diz que há algo relacionado àqueles guardanapos que ele pediu... e com a casa de boneca... há alguma coisa. Às vezes, eu tenho a impressão de quase saber o que é, mas aí tudo me escapa. Não foi à toa que ele pediu aquelas coisas, Denis. Sou capaz de apostar a minha vida nisso. Mas não sei. — De repente Peyna deu um tapa na própria perna num gesto de exasperação. — Estou expondo dois excelentes jovens a um perigo terrível, e meu coração me diz que estou agindo corretamente, mas eu... não... sei... POR QUÊ!
E dentro do homem, que um dia, em seu coração, condenara um jovem por causa de suas lágrimas, o estranho gargalhava sem parar.
OS DOIS VELHOS despediram-se de Denis. Todos trocaram apertos de mão; depois Denis beijou o anel do magistrado, que ostentava na face o Grande Selo de Delain. Peyna abrira mão de seu posto de magistrado-geral, mas não tivera coragem de desfazer-se do anel, que para ele simbolizava toda a virtude da lei. Sabia que algumas vezes tinha cometido enganos, mas não se deixara abater por eles. Mesmo o último e o maior de seus enganos não o abatera. Ele sabia tão bem quanto nós que em nosso mundo o caminho do inferno é calçado de boas intenções — mas também sabia que, em se tratando de seres humanos, as boas intenções são às vezes tudo o que se pode ter. Os anjos podem estar a salvo de danação; o homem é uma criatura menos privilegiada, e o inferno está sempre perto dele.
Protestou contra o ato de Denis de beijar o anel, mas Denis insistiu. Em seguida, Arlen apertou a mão de Denis e desejou-lhe que os deuses o protegessem. Sorrindo (mas Peyna ainda percebeu o medo oculto em seus olhos), Denis retribuiu-lhes os votos. Então, o jovem mordomo seguiu para o leste, em direção ao castelo, e os dois velhos rumaram para o oeste, com destino à granja de um tal Carlos Reechul, que criava cães huskies anduanos para viver, pagava sem reclamar os impostos exorbitantes cobrados pelo rei e, por isso, era considerado leal... mas Peyna sabia que Reechul era simpático aos exilados acampados na Floresta dos Confins e que ele ajudara outras pessoas a alcançá-los. Jamais passara pela cabeça de Peyna vir um dia a precisar ele próprio dos préstimos de Reechul, mas esse dia chegara.
A filha mais velha do granjeiro, Naomi, levou Peyna e Arlen para o norte num trenó puxado por 12 das mais possantes crias de Reechul. Na noite de quarta-feira, chegara à orla da Floresta dos Confins.
— Quanto tempo mais até o acampamento? — perguntou Peyna a Naomi nessa noite.
Naomi atirou ao fogo o charuto fino e malcheiroso que vinha fumando.
— Mais dois dias, se o céu continuar limpo. Mais quatro, se nevar. Talvez nunca, se houver tempestade.
Peyna recolheu-se e caiu no sono quase imediatamente. Lógico ou ilógico, fazia anos que não dormia tão bem.
O tempo continuou claro no dia seguinte e na sexta-feira também. À tardinha desse dia — o quarto desde que Peyna e Arlen se separaram de Denis —, chegaram ao pequeno amontoado improvisado de tendas e cabanas de madeira que Flagg havia procurado em vão.
— Alto! Quem vem lá, e qual é a senha? — bradou uma voz. Era uma voz muito forte, cheia, jovial e destemida. Peyna reconheceu-a.
— É Naomi Reechul — gritou a moça —, e a senha, duas semanas atrás, era “tripos”. Se não for mais, Ben Staad, acerte-me uma flecha e eu voltarei à noite para puxar a sua perna!
Ben surgiu detrás de uma pedra, rindo.
— Eu não me atreveria a enfrentá-la como fantasma, Naomi. Viva, você já é bastante assustadora!
Sem tomar conhecimento da observação, ela voltou-se para Peyna.
— Chegamos — disse.
— É — disse Peyna. — Estou vendo.
E acho bom que tenhamos chegado... porque algo me diz que o tempo se tomou curto... tremendamente curto.
PEDRO TINHA A MESMA sensação.
No domingo, dois dias depois que Peyna e Arlen chegaram ao acampamento dos exilados, sua corda, pelos seus cálculos, ainda terminaria a dez metros do chão. Isso significava que, balançando-se da ponta, ele ainda teria de enfrentar uma queda de pelo menos sete metros. Sabia que seria muito mais prudente continuar a trabalhar na corda por mais quatro meses — mais dois que fossem. Se soltasse a corda, caísse de mau jeito e quebrasse as duas pernas, de modo que os guardas da Praça o encontrassem a gemer no calçamento quando fizessem a ronda, ele teria perdido mais de quatro anos, simplesmente por não ter tido a paciência de estender o seu trabalho por mais quatro meses.
Essa era uma lógica que Peyna teria apreciado, mas a sensação de Pedro de que tinha de apressar-se era muito mais forte. Em outros tempos, Peyna teria torcido o nariz à idéia de que sensações pudessem merecer mais fé do que a lógica... Agora talvez já não estivesse tão certo.
Pedro vinha tendo um sonho — por quase uma semana ele se repetira, e se tornara progressivamente mais distinto. No sonho, ele via Flagg debruçado sobre um objeto iluminado e brilhante, que iluminava a cara do bruxo com um clarão doentio, verde-amarelado. Sempre chegava a um ponto em que os olhos de Flagg primeiro se arregalavam, como se de surpresa, em seguida, apertavam-se em fendas cruéis. As sobrancelhas se repuxavam para baixo; o cenho se carregava; uma careta horrenda torcia-lhe a boca. Nessa expressão, o Pedro sonhador lia uma única coisa: morte. Flagg dizia uma única palavra ao inclinar-se para a frente, soprando o objeto luminoso, que se apagava como uma vela quando o hálito do bruxo o tocava. Uma única palavra, mas era o bastante. A palavra que saía da boca de Flagg era o nome de Pedro, proferido em tons de irada descoberta.
Na noite anterior, a de sábado, aparecera um halo em torno da lua. Os guardas da prisão acharam que era sinal de que em breve ia nevar. Examinando o céu nessa tarde, Pedro viu que eles tinham razão. O pai ensinara-lhe a ler o tempo, e de pé junto à janela, Pedro sentiu uma pontada de tristeza... e uma centelha renovada de cólera fria e muda... a necessidade de pôr tudo novamente em ordem.
Eu farei a minha tentativa sob o manto da noite e sob o manto da borrasca, pensou. Haverá até um bocado de neve para amortecer a minha queda. A essa idéia Pedro teve de sorrir: de qualquer modo, dez centímetros de neve fofa, pulverizada, entre ele e o calçamento de pouco valeria. Ou a corda perigosamente fina agüentaria... ou arrebentaria. Supondo que agüentasse, haveria a queda final. E suas pernas agüentariam o impacto... ou não.
E se elas agüentarem, para onde você vai?, uma vozinha sussurrou. Todos os que poderiam protegê-lo ou ajudá-lo — Ben Staad, por exemplo — de há muito foram expulsos das terras do castelo... e do próprio reino, ao que consta.
Então, confiaria em sua estrela. Estrela de rei. Muitas vezes o pai lhe falara a respeito. Há reis com boa estrela e com má estrela. Mas você será seu próprio rei e terá sua própria estrela. Por mim, creio que há de ter uma estrela muito boa.
Fazia cinco anos que — pelo menos em sua própria convicção — ele era rei de Delain, e pensava que se sua estrela tivesse se mostrado da mesma espécie que a da família Staad, com seu já famoso infortúnio, ele teria compreendido. Mas talvez esta noite compensasse tudo.
A corda, as pernas, a estrela. Cada qual haveria de agüentar ou todas arrebentariam, muito possivelmente ao mesmo tempo. Não importava. Por mais insignificante que fosse sua estrela, ele confiava nela.
— Esta noite — murmurou, afastando-se da janela... mas à hora do jantar algo aconteceu que o fez mudar de idéia.
PEYNA E ARLEN GASTARAM todo o dia da terça-feira para vencer os 16 quilômetros até a granja de Reechul e chegaram quase extenuados. O castelo de Delain ficava ao dobro da distância, mas Denis poderia estar batendo à Porta Oeste — se fosse louco bastante para fazer isso — pelas duas da tarde, apesar da longa caminhada do dia anterior. Essa, claro, é a diferença entre moços e velhos. Mas o que ele podia ter feito, na verdade, não interessava, porque Peyna fora muito claro em suas instruções (principalmente para um homem que alegava não ter a menor idéia do que estava fazendo), e Denis propunha-se segui-las à risca. Assim, devia esperar mais algum tempo antes de entrar no castelo.
Depois de cobrir pouco menos de metade da distância, passou a procurar um lugar onde pudesse entocar-se por alguns dias. Até aqui não cruzara com ninguém na estrada, mas passava do meio-dia e logo haveria gente voltando do mercado ao castelo. Denis não queria que ninguém o visse ou prestasse atenção nele. Afinal, supostamente ele estava em casa, de cama. Não precisou procurar muito para encontrar um lugar que lhe servia muito bem. Era uma quinta abandonada, outrora bem-cuidada, mas agora já meio em ruínas. Graças a Tomás, o Tributador, havia muitos lugares como aquele ao longo das estradas que levavam ao castelo.
Denis ficou ali até sábado à tarde — ao todo, quatro dias.
A essa altura, Ben Staad e Naomi já estavam de volta da Floresta dos Confins e a caminho da casa de Peyna, Naomi fazendo seu trio de cães dar tudo o que podia. Se Denis soubesse disso, teria se sentido bem menos oprimido — mas, naturalmente, não sabia e sentia-se só.
Em cima não havia nada para comer, mas no porão achou algumas batatas e um punhado de nabos. Comeu as batatas (detestava nabos, sempre detestara e sempre detestaria), usando sua faca para cortar as partes podres — o que significava retirar três quartos de cada batata. Restou-lhe um punhado de bolinhas brancas do tamanho de ovos de pomba. Comeu algumas, olhou para os nabos na tulha de verduras e suspirou. Gostasse (não gostava) ou detestasse (detestava), calculou que na sexta-feira seria obrigado a comê-los.
Se eu estiver bem faminto, pensou Denis esperançoso, talvez eles pareçam gostosos. Talvez eu devore esses diabos desses nabos e implore por mais.
Acabou tendo de comer vários nabos, embora conseguisse resistir até o meio-dia de sábado. A essa altura, eles lhe tinham realmente parecido apetitosos, mas, com toda a sua fome, o gosto ainda era horrível.
Denis, prevendo que teria dias muito difíceis, comeu-os assim mesmo.
NO PORÃO DENIS descobriu também um par de raquetes de neve. As correias eram grandes demais, mas ele tinha tempo de sobra para encurtá-las. As malhas começavam a apodrecer, e isso ele não tinha como remediar, mas calculou que ainda serviriam. Não ia precisar delas por muito tempo.
Dormiu na adega, receando uma surpresa, mas nas horas diurnas dos quatro longos dias passou a maior parte do tempo na sala de visitas da casa abandonada, observando o movimento da estrada num e noutro sentido — o pouco que havia começava às cinco horas, quando as sombras do início de inverno começavam a cobrir a terra. A sala era um lugar vazio e triste. Antes fora um canto acolhedor, onde a família reunida comentava os sucessos do dia. Agora, estava entregue aos ratos... e a Denis, naturalmente.
Peyna, tendo ouvido Denis declarar que sabia ler e escrever “bastante para um criado” e vendo-o desenhar suas “letras grandes” (isso fora dito à mesa do café na terça-feira — a última refeição propriamente dita que Denis tivera desde o seu almoço de segunda, uma refeição que ele recordava com compreensível saudade), tinha-lhe fornecido várias folhas de papel e um lápis de grafite. E a maior parte das horas na casa abandonada Denis passou elaborando minuciosamente uma mensagem. Escrevia, apagava, reescrevia, franzia horrivelmente a testa ao reler, coçava a cabeça, apontava o lápis com a faca e voltava a escrever. Sentia vergonha de sua ortografia, e um terrível medo de esquecer algum item crucial que Peyna lhe recomendara incluir. Em diversos momentos, quando seu pobre e exausto cérebro não lograva fazer nenhum progresso, desejou que Peyna tivesse ficado acordado uma hora mais na noite da sua chegada e escrito ele mesmo o raio da mensagem, ou ditado a Arlen. A maior parte do tempo, porém, trabalhou com prazer. Toda a sua vida tinha trabalhado muito, e a ociosidade o punha inquieto e nervoso. Teria preferido exercitar seu corpo robusto de jovem em vez de seu cérebro não tão robusto de jovem, mas trabalho era trabalho, e era bom contar com ele.
Ao meio-dia de sábado, tinha pronta uma carta que lhe pareceu satisfatória (o que foi bom, porque as folhas disponíveis se tinham reduzido a duas). Contemplou-a com certa admiração. Ela cobria os dois lados do papel, e era de longe a coisa mais comprida que já tinha escrito. Dobrou-a até reduzi-la ao tamanho de um tablete de remédio, depois ficou espiando pela janela da sala, esperando que escurecesse o bastante para poder sair.
Pedro viu da sua pobre cela no Obelisco as nuvens que se acumulavam, Denis viu a mesma coisa da sala da casa abandonada; ambos tinham aprendido a ler o céu com seus pais — um rei e um mordomo de rei —, e Denis também chegou à mesma conclusão: no dia seguinte ia nevar.
Às quatro horas, a longa sombra azul da casa se estendia a perder de vista a partir das fundações, e Denis já não se sentia tão ansioso por partir. Havia perigo à frente... perigo mortal. Ele estaria a caminho de onde Flagg, àquela mesma hora, talvez se debruçasse sobre seus bruxedos infernais, talvez àquela mesma hora investigasse sobre um certo mordomo doente. Mas o que ele sentia não tinha muita importância, e ele sabia: chegara a hora de cumprir o seu dever, e como todos os mordomos em sua linhagem tinham feito por séculos sem conta, Denis faria o possível.
À hora lúgubre do ocaso ele saiu, calçou as raquetes de neve e partiu célere, cortando o campo em linha reta rumo ao castelo. A idéia de lobos ocorreu-lhe à mente agitada; só lhe restava esperar que não houvesse nenhum, e que se houvesse, o deixassem em paz. Não tinha a menor idéia de que Pedro decidira realizar a sua arriscada fuga na noite seguinte, mas como Peyna — e como o próprio Pedro —, sentia necessidade de apressar-se; tinha a sensação de que nuvens como as que cobriam o céu povoavam-lhe igualmente o coração.
Enquanto ele percorria com esforço a neve dos campos desolados, os pensamentos de Denis se voltavam para um modo de entrar no castelo sem ser visto e intimado a dar a senha. Tinha imaginado um jeito... isto é, se Flagg não o farejasse.
Foi só ele pensar no nome do feiticeiro e um lobo uivou em algum ponto distante da branca vastidão silenciosa. Num compartimento escuro do subterrâneo do castelo, a sala de estar de Flagg, o bruxo empertigou-se de repente na cadeira, onde adormecera com um livro de ciência arcana aberto sobre o ventre.
— Quem fala o nome de Flagg? — sibilou o mago, e o papagaio bicéfalo soltou um grito estridente.
No meio de um extenso e desolado campo branco, Denis ouviu aquela voz, seca e rascante como o contato das pernas de uma aranha, dentro da cabeça. Parou, prendendo a respiração. Quando afinal expirou, um jato de vapor gelado rompeu-lhe da boca. Sentia frio no corpo todo, mas gotas quentes de suor brotavam-lhe da testa.
Sob os pés ele ouvia estalos secos — poc! poc! poc! —, quando vários dos cordões apodrecidos da malha das raquetes rebentavam.
O lobo uivou no silêncio. Era um som faminto e desalentado.
— Ninguém — resmungou Flagg na sala de seu aposento.
Ele raramente adoecia — não se lembrava de ter estado doente mais de três ou quatro vezes em sua longa vida —, mas apanhara um resfriado sério no norte, dormindo no chão gelado, e embora estivesse melhorando, ainda não estava bom.
— Ninguém. Um sonho. Só isso.
Pegou o livro que tinha no colo, fechou-o e pousou-o numa mesinha ao lado da cadeira — a superfície da mesa era lindamente forrada de pele humana — e voltou a encostar-se na cadeira. Em pouco tempo, estava dormindo outra vez.
Nos campos nevados a oeste do castelo, Denis aos poucos relaxou. Uma única gota de suor ardente entrou-lhe no olho e ele enxugou distraidamente. Tinha pensado em Flagg... e de algum modo Flagg o tinha escutado. Mas a sombra escura do pensamento do mago tinha passado por ele, como a sombra de um falcão passando sobre um coelho agachado. Denis deixou escapar um longo e trêmulo suspiro. Sentia as pernas bambas. Tentaria — tentaria com todas as suas forças — não pensar no mago outra vez. Mas, enquanto a noite avançava e a lua ascendia no céu com seu halo espectral, era mais fácil querer do que fazer.
ÀS OITO HORAS, Denis deixou os campos e entrou nas reservas de caça do rei. Ele as conhecia bem. Servira como escudeiro de Brandon, quando o pai era mordomo do velho rei nos campos de caça, e Rolando aqui vinha com freqüência, mesmo em sua velhice. Tomás vinha menos vezes, mas nas poucas ocasiões em que o menino-rei caçava, Denis, naturalmente, era convocado a acompanhá-lo. Logo, deu com uma trilha conhecida, e faltando pouco para a meia-noite alcançou a borda daquela floresta de recreio.
Parou atrás de uma árvore, observando o muro do castelo, que ficava a 800 metros de distância, do outro lado de um terreno limpo, coberto de neve. A lua ainda brilhava, e Denis percebia claramente as sentinelas que rondavam o parapeito do castelo. Tinha de esperar até que o príncipe Ailon em sua carruagem prateada tivesse transposto a beirada do mundo, antes de cruzar aquele espaço aberto. Mesmo assim, estaria horrivelmente exposto. Sabia desde o começo que essa seria a parte mais arriscada de toda a aventura. Ao despedir-se de Peyna e Arlen, à luz amiga do sol, o risco se afigurara aceitável. Agora parecia uma completa loucura.
Volta, uma voz covarde dentro dele implorava, mas Denis sabia que não podia. O pai lhe impusera um encargo, e se os deuses quisessem que ele morresse na tentativa de cumpri-lo, ele morreria.
Débil, mas distinta, como uma voz ouvida em sonho, chegou-lhe a proclamação do pregoeiro, flutuando até ele da torre central do castelo:
— Doze horas e tudo bem...
Nada está bem, pensou Denis tristemente. Nada, nada. Encolheu-se mais no seu capote fino e começou a longa espera pelo declínio da lua.
Às tantas, ela deixou o céu, e Denis soube que tinha de pôr-se em movimento. O tempo urgia, Levantou-se, dirigiu aos deuses uma breve prece e saiu andando pelo espaço aberto o mais depressa que podia, esperando que a qualquer momento um brado de Quem vem lá? partisse da muralha. Não houve brado. As nuvens tinham engrossado no firmamento noturno. Abaixo da muralha, era tudo uma só sombra negra. Em menos de dez minutos, Denis chegou à beira do fosso. Sentou-se na parte baixa do fosso, a neve rangendo debaixo do traseiro, e tirou as raquetes de neve. Depois deslizou para dentro do fosso, que estava congelado e coberto de mais neve.
O coração palpitante de Denis acalmou-se. Ele estava agora na sombra da sólida muralha do castelo, e não seria visto a menos que uma sentinela olhasse para baixo. Mesmo assim, seria difícil vê-lo.
Denis teve o cuidado de não cruzar toda a largura do fosso — por ora — porque o gelo junto ao muro estaria fino e quebradiço. Ele sabia por quê: a razão do gelo fino, do mau cheiro que sentia e da umidade musgosa nas enormes pedras do muro exterior, era a sua esperança de entrar secretamente no castelo. Cuidadosamente caminhou para a esquerda, apurando os ouvidos, para escutar o marulho de água corrente.
Finalmente, ouviu e ergueu a vista. Ali, à altura dos olhos, havia um buraco redondo escuro na parede maciça do castelo. Dele escorria fluido em jorros preguiçosos. Era um escoadouro de esgoto.
— Agora! — murmurou Denis.
Recuou cinco passos, correu e saltou. Ao saltar, sentiu que o gelo, minado pelo constante fluxo morno dos despejos, cedia sob seus pés. No instante seguinte, estava pendurado à borda musgosa do cano. Era escorregadia, e ele precisou se agarrar com toda a força para não cair. Esperneando em busca de apoio para os pés, lançou-se e, com um impulso final, entrou no cano. Fez uma pausa momentânea para recobrar o fôlego, em seguida continuou a rastejar pelo cano, que subia numa inclinação constante. Ele e vários de seus companheiros de infância tinham descoberto os canos e foram logo advertidos pelos pais, em parte pelo risco de perder-se e, principalmente, por causa dos ratos do esgoto. Mesmo assim, Denis achava que sabia aonde iria sair.
Uma hora mais tarde, num corredor deserto da ala leste do castelo, um ralo de esgoto moveu-se... aquietou-se... moveu-se outra vez. Deslocou-se parcialmente para um lado, e momentos depois um mordomo muito sujo (e muito fedorento) chamado Denis suspendeu-se para fora de um buraco no piso e deitou-se ofegante nas lajes geladas. Gostaria de ter descansado mais um pouco, mas podia vir alguém mesmo àquela hora. Assim, recolocou o ralo e olhou em volta.
Não reconheceu logo o corredor, mas isso não o preocupou. Seguiu em direção à interseção do extremo mais distante. Pelo menos, pensou, não houvera ratos na rede de canos de esgoto que se estendia debaixo do castelo. Fora um grande alívio. Ele contara encontrá-los, não só por causa dos casos de arrepiar que o pai às vezes contava, como porque tinha visto ratos quando ele e seus camaradas tinham-se aventurado com risadinhas medrosas a entrar nos canos — os ratos tinham sido parte da emoção e do desafio da aventura.
Provavelmente eram só alguns camundongos, e a sua memória exagerou e os transformou em ratazanas, disse Denis a si mesmo. Não era verdade, mas Denis nunca saberia disso. Sua lembrança dos ratos nos esgotos era fiel. Os canos tinham estado infestados de grandes roedores transmissores de doenças desde tempos imemoriais. Só nos últimos cinco anos, eles tinham deixado de proliferar nos esgotos. Tinham sido exterminados por Flagg. O bruxo tinha-se desfeito de um pedaço de pedra e do seu punhal através de um ralo de esgoto semelhante àquele de que Denis emergira nessa manhã de domingo. Desfizera-se das duas peças, é claro, porque nelas tinham ficado aderidos alguns grânulos da mortífera areia-de-dragão. Os vapores produzidos por esses poucos grãos tinham matado os ratos, a muitos queimando vivos enquanto nadavam na água espumosa dos canos, sufocando todos os demais sem dar-lhes tempo de fugir. Cinco anos passados, os ratos ainda não tinham voltado, embora a maior parte dos vapores venenosos se tivesse dissipado. A maior parte, mas não completamente. Se Denis tivesse entrado por um dos canos mais próximos do aposento de Flagg, poderia ter morrido. Talvez fosse a sua boa estrela que o salvou, o destino, ou os deuses a quem ele rezava. Nesse assunto eu não dou opinião. Meu negócio é contar histórias, e no que toca à sobrevivência de Denis, pensem vocês o que quiserem.
ELE CHEGOU À JUNÇÃO, espiou e viu um sonolento guarda da ronda passando mais adiante. Recuou. O coração batia-lhe forte outra vez, mas ele ficou satisfeito: já sabia onde estava. Quando voltou a olhar, o guarda tinha desaparecido.
Denis seguiu ligeiro pelo corredor, desceu um lance de escada, ganhou outra galeria. Movia-se com segurança e rapidez porque passara a vida toda no castelo. Conhecia-o o bastante para encontrar o caminho que conduzia da ala leste, onde saíra do esgoto, para a ala oeste, onde ficava o depósito de guardanapos.
Mas porque não se arriscava a ser visto — por ninguém —, preferiu seguir pelos corredores menos freqüentados que conhecia, e ao menor som de passos (reais ou imaginados, e eu acho que em boa parte foram imaginados), metia-se na fenda ou nicho mais próximo. Ao todo, levou mais de uma hora.
Tinha a impressão de nunca na vida ter sentido tanta fome.
Por ora, esqueça a sua maldita barriga, Denis— cuide primeiro do seu amo, depois da barriga.
Já tinha andado uma boa distância e estava parado num vão de porta sombrio. De muito longe, ouviu o pregoeiro anunciando quatro horas. Ia seguir em frente, quando passos lentos e pesados ecoaram no corredor... um tinir de aço e bainha de espada, um ranger de perneiras de couro.
Denis encolheu-se ainda mais na sombra, suando.
Um guarda de ronda se deteve bem em frente ao vão de porta ligeiramente sombreado onde Denis se escondia. Por um momento, o homem ficou parado a limpar o nariz com o dedo mindinho, depois se curvou para expelir um jato de catarro por entre os dedos. A Denis bastaria estender o braço para tocá-lo, e ele teve a certeza de que a qualquer momento o guarda se voltaria... arregalaria os olhos... puxaria a adaga... e seria o fim de Denis, filho de Brandon.
Por favor, o pensamento gelado de Denis sussurrava. Por favor, oh, por favor...
Sentia o cheiro do guarda, o cheiro do vinho velho e carne no seu hálito, e o suor azedo que lhe saía da pele.
O guarda começou a andar... Denis começou a relaxar... O guarda parou de novo e voltou a limpar o nariz. Denis teve vontade de gritar.
— Eu tenho uma namorada que se chama Manu-Manu-Manuela — o guarda rompeu a cantar numa voz gutural e monocórdia, sem interromper a faxina do nariz. Produziu alguma coisa grande e verde, examinou-a pensativo e atirou na parede. Plaf! — Ela tem uma irmã que se chama Rafa-Rafaela... Eu seria capaz de atravessar os sete mares... só para beijar o joelhinho dela! Da-la-la-dão me passa um canecão.
Agora algo de indizivelmente horrível estava acontecendo a Denis. Seu nariz começava a coçar sem parar, de um modo inconfundível. Dentro de um instante, ele ia espirrar.
Vá embora!, esgoelou mentalmente. Por que não vai embora, pedaço de asno?
Mas o guarda não mostrava nenhuma intenção de ir. Aparentemente, encontrara uma rica mina na narina esquerda, e se propunha a explorá-la...
— Eu tenho uma namorada que se chama Mari-Mari-Mari-quinha... Ela tem uma irmã que se chama Lui-Lui-zinha... Eu seria capaz de atravessar sete montanhas... só para beijar a sua boquinha... Da-la-la-dão me passa um canecão.
Eu lhe arrumo um canecão na cabeça, imbecil!, pensou Denis. Saia daqui! A coceira do nariz aumentava mais e mais, mas ele nem se atrevia a tocá-lo, receando que o guarda, pelo canto do olho, percebesse o movimento.
O guarda franziu a testa, curvou-se, assoou-se outra vez entre os dedos e finalmente seguiu o seu caminho, ainda cantarolando a sua monótona canção. Mal sumira de vista, Denis levou o braço ao nariz e espirrou na dobra do cotovelo. Esperou pelo entrechoque de metais quando o guarda puxasse da espada e rodopiasse de volta, mas o tipo estava meio sonolento e ainda meio chumbado de alguma farra em que se metera antes de entrar no seu turno de serviço. Antes, Denis sabia, um tipo tão relapso teria sido logo surpreendido e despachado para os confins mais remotos do reino, mas os tempos agora eram outros. Ouviu-se o clique de um trinco, o rangido agudo de gonzos de uma porta sendo aberta, em seguida se fechando com estrondo, cortando a canção do guarda no momento em que ele voltava ao estribilho. Por um momento, Denis estremeceu no seu nicho, os olhos fechados, as faces e a testa em fogo, os pés, dois blocos de gelo.
Por alguns minutos eu nem me lembrei da minha barriga!, pensou, e teve de bater as duas mãos na boca para abafar uma risada.
Espiou para fora do seu esconderijo, não viu mais ninguém por perto e dirigiu-se a uma porta mais adiante no corredor, à sua direita. Essa porta ele conhecia muito bem, embora a cadeira de balanço vazia e a caixa de costura junto dela fossem uma novidade. A porta levava ao depósito onde todos aqueles guardanapos estiveram guardados desde a época de Kyla, a Boa. A porta nunca fora trancada antes, e não estava agora. Aparentemente, não se considerava que velhos guardanapos merecessem ser trancados. Denis olhou para dentro, esperando que a sua resposta à pergunta-chave de Peyna continuasse valendo.
Na estrada, naquela manhã clara de cinco dias atrás, Peyna lhe perguntara: Sabe quando levam novas provisões de guardanapos ao Obelisco?
Parecera a Denis uma pergunta muito simples, mas vocês já devem ter notado que qualquer pergunta parece simples quando se sabe a resposta, e dificílima quando não se sabe. Que Denis soubesse responder a esta era um atestado da sua honra e probidade, embora esses traços fossem tão profundamente viscerais em seu caráter que ele se surpreenderia se alguém lhe tivesse dito isso. Ele tinha sido pago — com dinheiro de Peyna, por sinal — por Ben Staad para garantir que os guardanapos fossem entregues. Apenas um florim, é certo, mas dinheiro era dinheiro e paga era paga. Ele considerara um compromisso de honra assegurar-se, de tempos em tempos, de que o suprimento prosseguia.
Falara a Peyna do grande depósito (Peyna ficara atônito ao saber dele) e de como todos os sábados à noite por volta das sete horas uma criada apanhava 21 guardanapos, sacudia-os, passava-os a ferro, dobrava-os e os empilhava no interior de um carrinho e colocava os guardanapos em cima de uma mesa, de onde eram retirados um a um, a cada refeição, no curso da semana.
Peyna ficara satisfeito.
Denis entrou depressa, procurando dentro da camisa a mensagem que escrevera na casa da fazenda. Passou por um mau momento, não conseguindo encontrá-la, mas então seus dedos se fecharam sobre ela e ele suspirou aliviado. Só tinha escorregado um pouco para um lado.
Levantou o guardanapo do desjejum de domingo. Almoço de domingo. Por um momento, quase passou também o do jantar, e se tivesse feito isso a minha história iria ter um fim bem diferente — se melhor ou pior não sei dizer, mas decerto diferente. Mas Denis acabou decidindo que uma profundidade formada por três guardanapos seria segura. Numa fresta entre duas tábuas da sala da casa da fazenda, ele tinha achado um alfinete e o tinha espetado em uma das alças da grosseira camiseta de mescla de algodão que usava debaixo da camisa (se tivesse pensado um pouco mais, teria espetado com ele a folha de papel na camiseta, e se poupado aquele mau momento, mas, como salvo engano eu já lhes disse, o cérebro de Denis não era dos mais brilhantes). Agora, valendo-se do alfinete, pregou com cuidado a mensagem a uma dobra interior do guardanapo.
— Que a mensagem o encontre, Pedro — murmurou no silêncio espectral do depósito, atulhado de enormes pilhas de guardanapos fabricados numa outra era. — Que ela o encontre, meu rei.
Denis sabia que agora tinha de esconder-se. Em pouco, o castelo estaria despertando; cavalariças estariam tropeçando em direção aos cavaleiros, lavadeiras se dirigiriam às lavanderias, aprendizes de cozinha, sonolentos e de olhos inchados, cambaleariam para os seus fogões (pensar nas cozinhas fazia a barriga de Denis renovar os roncos — agora até os detestáveis nabos teriam caído muito bem —, mas comida, ele sabia, teria de esperar).
Penetrou mais na grande sala. As pilhas eram tão altas, as passagens entre elas tão irregulares e cheias de ziguezagues, que era como penetrar num labirinto. Os guardanapos exalavam um cheiro adocicado de algodão. Chegou finalmente a um dos cantos afastados e achou que ali estaria em segurança. Pegou parte de uma pilha, espalhou-a no chão e apanhou outro bocado para servir de travesseiro.
Era de longe o colchão mais luxuoso em que ele já se deitara, e, por mais faminto que estivesse, precisava de sono muito mais que de comida, depois de sua longa caminhada e dos sobressaltos da noite. Num instante estava dormindo, e não foi perturbado por sonhos. Agora vamos deixá-lo, com a primeira parte da sua missão bem e bravamente cumprida. Vamos deixá-lo deitado de lado, a mão direita fechada sob a bochecha direita, dormindo num leito de guardanapos reais. E, a vocês que me ouvem, gostaria de fazer um voto: que o seu sono esta noite seja tão doce e inocente como foi o dele aquele dia inteiro.
NA NOITE DE SÁBADO, enquanto Denis suportava o horror daquele uivo de lobo e sentia a sombra do pensamento de Flagg passar por cima dele, Ben Staad e Naomi Reechul estavam acampados numa depressão nevada 48 quilômetros ao norte da quinta de Peyna... ou do que fora a quinta de Peyna, antes que surgisse Denis com sua história de um rei que andava e falava dormindo.
Era um acampamento simples, do tipo que as pessoas fazem quando pretendem parar apenas umas poucas horas e seguir viagem. Naomi tinha cuidado dos seus amados cachorros, enquanto Ben armava uma pequena tenda e acendia uma fogueira crepitante.
Em seguida, Naomi juntou-se a ele ao pé do fogo e cozinhou um pedaço de carne de cervo. Comeram em silêncio, depois Naomi foi ver os cachorros de novo. Estavam todos dormindo, exceto a cadela Frisky, sua favorita. Frisky olhou para ela com olhos quase humanos e lambeu-lhe a mão.
— Hoje foi uma boa caminhada, queridinha — disse Naomi. — Agora durma. Pegue um coelho na lua.
Obediente, Frisky deitou a cabeça sobre as patas. Naomi sorriu e voltou para junto do fogo. Ben estava sentado com os joelhos grudados no peito e os braços em torno deles. Tinha o semblante sombrio e pensativo.
— Vai nevar.
— Eu sei ler as nuvens tão bem quanto você, Ben Staad. E as fadas fizeram um anel ao redor da cabeça do príncipe Ailon.
Ben olhou a lua e concordou. Depois voltou a olhar para o fogo.
— Estou preocupado. Sonhei que... bem, sonhei coisas de que é melhor não falar. Ela acendeu um charuto. Estendeu o pacotinho — que era envolvido em musselina para evitar que secasse — a Ben, que abanou a cabeça.
— Eu acho que sonhei a mesma coisa — disse ela. Tentava usar um tom despreocupado, mas foi traída por um ligeiro tremor na voz.
Ele voltou-se e olhou para ela com os olhos arregalados.
— É — disse ela, como se ele tivesse perguntado. — No sonho, ele olha algo iluminado e fala o nome de Pedro. Eu nunca fui dessas garotinhas não-me-toque que gritam à vista de um ratinho ou de uma aranha na teia, mas desse sonho eu acordei com vontade de gritar.
Ela parecia ao mesmo tempo envergonhada e desafiadora.
— Quantas vezes você teve o sonho?
— Duas.
— Eu tive quatro em seguida. O meu é idêntico ao seu. E não precisa me olhar como se esperasse que eu risse de você ou a chamasse de maria-chorona. Eu também acordei com vontade de gritar.
— Aquela coisa iluminada... no fim do meu sonho, parece que ele a apaga. Seria uma vela?
— Não. Você sabe que não.
Ela assentiu com a cabeça. Ben pensou um pouco.
— Algo muito mais perigoso que uma vela, eu acho... Eu vou aceitar o charuto que você me ofereceu, posso?
Ela estendeu-lhe um. Ele acendeu-o na fogueira. Por algum tempo, ficaram sentados em silêncio, observando as fagulhas subirem para o vento forte que lançava no céu redes feitas dos flocos de neve nos campos. Como a luz no sonho que eles partilhavam, as fagulhas se extinguiam. A noite parecia tenebrosa. Ben sentia o cheiro de neve no vento. Muita neve, ele pensou.
Naomi falou como se lhe tivesse lido o pensamento.
— Acho que vem por aí uma tempestade como aquelas de que falam os mais velhos. Também acha?
— Também.
Com hesitação completamente diferente de seus modos em geral decididos, Naomi perguntou:
— O que quer dizer o sonho, Ben? Ben sacudiu a cabeça.
— Não sei. Perigo para Pedro, isso é claro. Se é que quer dizer algo... algo que eu possa compreender... é que temos de andar depressa. — Olhou-a direto nos olhos com uma premência que fez o coração dela bater mais depressa. — Acha que chegaremos amanhã à quinta de Peyna?
— Acho que sim. Só os deuses podem dizer se um cachorro não vai quebrar uma perna ou se um urso assassino com insônia em sua hibernação não vai sair do mato e matar-nos a todos, mas sim... acho que sim. Eu substituí todos os cachorros que usei na ida, menos Frisky, e Frisky é quase incansável. Se a neve vier logo, vai nos atrasar, mas acho que vai demorar... e a cada hora de demora, será muito pior quando vier. Pelo menos é o que imagino. Mas se demorar mesmo, e se nos revezarmos saltando do trenó e correndo ao lado, acho que chegamos lá. Mas o que vamos fazer? Vamos ficar lá sentados, se o seu amigo mordomo não voltar?
— Não sei.
Ben suspirou e esfregou o rosto com uma das mãos. De que ia adiantar? Fosse o que fosse que os sonhos prediziam, aconteceria no castelo, não na quinta. Peyna enviara Denis ao castelo, mas como Denis pretendia entrar? Ben não sabia, porque Denis não dissera a Peyna. E se Denis conseguisse entrar despercebido, aonde iria se esconder? Havia mil lugares possíveis. A não ser...
— Ben!
— O que é? — Arrancado das suas reflexões, ele voltou-se para ela.
— Em que você pensou agora?
— Nada.
— Pensou, sim. Seus olhos brilharam.
— É mesmo? Devo ter pensado numa torta. É hora de nos recolhermos. Vamos partir assim que comece a clarear.
Mas, na tenda, Ben Staad ficou acordado muito tempo ainda, depois que Naomi adormeceu. Havia mil lugares no castelo para se esconder, sim. Mas ocorriam-lhe dois muito especiais. Muito provavelmente poderia encontrar Denis num... ou noutro.
Enfim, caiu no sono...
...e sonhou com Flagg.
PEDRO COMEÇOU O DOMINGO como sempre, com seus exercícios e uma prece. Acordara sentindo-se revigorado e pronto para tudo. Depois de uma olhadela ao céu para estimar o progresso da borrasca que se anunciava, comeu seu desjejum. E, naturalmente, usou seu guardanapo.
AO MEIO-DIA DE DOMINGO, todo o mundo em Delain saíra de dentro de casa pelo menos uma vez para olhar preocupado na direção do norte. Todos concordavam que o temporal, quando viesse, seria assunto de histórias em anos vindouros. As nuvens revoltas que se aproximavam eram de um cinza fosco, cor de pele de lobo. A temperatura tinha-se elevado até que os pingentes de gelo nos beirais dos becos tinham começado a gotejar pela primeira vez em semanas, mas os moradores mais antigos diziam uns aos outros (e a quem mais quisesse ouvir) que não se deixavam enganar. A temperatura ia cair bruscamente, e em poucas horas — talvez duas, talvez quatro — começaria a nevar. E, diziam, poderia nevar durante dias.
Pelas três da tarde, os camponeses dos Baronatos Centrais que tinham a sorte de ainda ter criações para cuidar recolheram os animais aos celeiros. As vacas exprimiam em mugidos o seu desprazer; pela primeira vez em meses a neve derretera o suficiente para permitir-lhes que tosassem o capim seco do outono. Yosef, mais velho, mais grisalho, mas aos 72 anos ainda cheio de energia, providenciou que os cavalos do rei estivessem todos nas estrebarias. Presumivelmente, haveria mais alguém para cuidar dos homens do rei. Donas-de-casa aproveitavam a temperatura amena para tentar secar os lençóis que de outra forma simplesmente teriam congelado nos varais, depois os recolheram quando a luz do dia prematuramente escureceu, assumindo uma cor de tempestade. Ficaram desapontadas; a roupa não tinha secado. Havia umidade em excesso no ar.
Os animais estavam inquietos. As pessoas, nervosas. Os taverneiros prudentes não abriram as portas. Tinham observado o mercúrio baixar em seus tubos barométricos, e uma longa experiência lhes tinha ensinado que a baixa pressão atmosférica predispõe os homens a brigar.
Delain se preparava para a tempestade que se avizinhava, e todo mundo estava à espera.
BEN E NAOMI revezaram-se correndo ao lado do trenó. Chegaram à quinta de Peyna às duas horas da tarde de domingo — à mesma hora, aproximadamente, em que Denis começava a despertar no seu colchão de guardanapos reais e Pedro recebia seu parco almoço.
Naomi estava linda — o rubor do exercício tinha-lhe tingido as faces bronzeadas com o belo vermelho fusco das rosas de outono. Quando o trenó entrou no pátio de Peyna, com os cães a latir freneticamente, ela voltou para Ben o rosto sorridente.
— Um recorde, pelos deuses! — exclamou. — Gastamos três... não, quatro.... horas a menos do que eu calculei quando saímos! E nenhum dos cães caiu de cansaço. Aiê, Frisky! Aiê! Boa menina!
Frisky, uma grande cadela husky anduana de cor branca e olhos cinza-esverdeado, era a cabeça do tiro. Estava saltando no ar, repuxando os tirantes. Naomi desatrelou-a e dançou com ela na neve. Era uma valsa curiosa, ao mesmo tempo graciosa e bárbara. Cadela e dona pareciam rir uma para a outra numa poderosa afeição mútua. Alguns dos outros cães estavam deitados de lado, ofegando, evidentemente exaustos, mas nem Frisky nem Naomi davam o menor sinal de esgotamento.
— Aiê, Frisky! Aiê, meu bem! Boa menina! Você fez uma corrida e tanto!
— Mas para quê? — perguntou Ben, sombrio.
Ela soltou as patas de Frisky e voltou-se para ele, zangada... mas o desânimo no rosto dele esfriou-lhe a irritação. Ele estava olhando para a casa. Ela seguiu-lhe o olhar e compreendeu. Eles estavam ali, sim, mas o que era ali? Uma casa vazia, mais nada. Para que tinham vindo de tão longe e tão depressa? A casa continuaria tão vazia como estava, uma hora... duas horas... quatro. Peyna e Arlen estavam no norte, Denis em algum lugar nas profundezas do castelo. Ou numa cela de prisão, ou num caixão à espera do enterro, se tivesse sido apanhado.
Ela aproximou-se de Ben e pousou-lhe no ombro uma mão hesitante.
— Não se recrimine — disse. — Nós fizemos tudo o que podíamos fazer.
— Fizemos? — ele perguntou. — Será? — Parou e suspirou profundamente. Tinha tirado o gorro de malha e seu cabelo dourado brilhava como seda à luz mortiça da tarde. — Desculpe, Naomi. Não queria ser rude com você. Você e seus cães foram maravilhosos. Só que eu acho que estamos muito longe de onde poderíamos prestar alguma ajuda de verdade. Eu me sinto impotente.
Ela olhou para ele, suspirou e balançou a cabeça.
— Bem — disse ele —, vamos entrar. Talvez haja lá dentro alguma indicação “do que devemos fazer a seguir. Pelo menos estaremos fora da tormenta quando ela chegar.
Dentro não havia pista alguma. Era apenas uma grande casa de quinta, ventosa e vazia, que fora abandonada às pressas. Ben ficou a vaguear impacientemente por todos os aposentos, sem nada encontrar. Depois de uma hora, deixou-se cair descontente ao lado de Naomi na sala de estar... na mesma cadeira em que Anders Peyna estivera sentado, escutando a incrível história de Denis.
— Se ao menos tivéssemos como seguir o rastro dele — disse Ben.
Ao erguer os olhos, viu que ela o fitava com olhos bem abertos e brilhantes, cheia de emoção.
— Talvez tenhamos! — disse ela. — Se a neve demorar...
— Do que é que você está falando?
— Frisky!— exclamou ela. — Não vê? Frisky pode seguir o rastro dele! Ela tem um faro como o de nenhum outro cachorro que eu já tenha conhecido!
— O cheiro seria de dias atrás — disse ele, sacudindo a cabeça. — Nem o melhor cão farejador de todos os tempos poderia...
— Talvez Frisky seja o melhor farejador de todos os tempos — rebateu Naomi, rindo. — E farejar no inverno não é o mesmo que farejar no verão, Ben Staad. No verão o rastro se desfaz rapidamente... apodrece, como diz papai, e há cem outros rastros encobrindo o que o cão procura. Não só de outras pessoas e outros animais, mas de ervas e ventos quentes, e até cheiros que vêm com águas correntes. Mas no inverno o rastro dura. Se tivéssemos algo desse Denis... algo que tivesse o cheiro dele...
— E o resto dos cães? — perguntou Ben.
— Eu abriria aquele barracão — ela apontou — e deixaria lá o meu cobertor. Se eu lhes mostrar onde ele está e depois soltá-los, eles serão capazes de conseguir comida por si mesmos... coelhos e outros animais... e também saberão onde abrigar-se.
— Não irão nos seguir?
— Não, se lhes for dito que não.
— Você pode fazer isso? — Ele olhou para ela com certo assombro.
— Não — disse Naomi singelamente. — Eu não falo cachorrês. E Frisky não fala humanês, mas entende. Se eu disser à Frisky, ela dirá a eles. Eles irão caçar o que for preciso, mas não se afastarão a ponto de perder o faro do meu cobertor, não com a tempestade se aproximando. E quando ela começar, eles irão para o abrigo, estejam ou não de barriga cheia.
— E se nós tivéssemos alguma coisa com o cheiro de Denis, acha mesmo que Frisky seguiria o rastro dele?
— Acho.
Ben ficou a olhá-la muito tempo, pensativo. Denis deixara a casa terça-feira; estavam no domingo. Ele não acreditava que um cheiro pudesse durar tanto. Mas havia algo na casa que podia ter guardado o cheiro de Ben, e talvez até mesmo uma jornada arriscada fosse melhor do que ficarem ali parados. Aquela imobilidade sem propósito era o que mais o exasperava, ver passarem as horas, quando coisas de grave importância poderiam estar acontecendo em algum lugar, enquanto 30 quilômetros a leste dali, um reino podia ser ganho ou perdido... e o seu melhor amigo podia viver ou morrer, só com aquele paspalho de mordomo para ajudá-lo.
— E então? — perguntou ela, ansiosa. — O que acha?
— Acho que é loucura — disse ele —, mas vale a pena tentar. Ela sorriu.
— Temos alguma coisa com o cheiro dele bem pronunciado?
— Temos — disse ele. — Traga a sua cadela, Naomi, e leve-a lá em cima. No sótão.
EMBORA A MAIORIA dos humanos não saiba disso, para os cães os cheiros são como cores. Cheiros leves têm cores leves, como tons pastel desbotados pelo tempo. Cheiros definidos têm cores definidas. Alguns cães têm o faro fraco e percebem os cheiros do modo como os humanos de vista fraca vêem as cores, achando que um azul suave seja cinza, ou que um pardo escuro seja preto. O faro de Frisky, ao contrário, era como os olhos de um homem com vista de falcão, e o cheiro no sótão onde Denis tinha dormido era muito forte e muito definido (talvez tenha ajudado o fato de Denis ter passado alguns dias sem tomar banho). Frisky cheirou o feno, depois o cobertor que a moça lhe estendeu. Sentiu nele o cheiro de Arlen, mas o desconsiderou: era mais fraco, e não era o cheiro que achara no feno. O cheiro de Arlen era azedo e cansado, e Frisky soube logo que era o cheiro de um velho. O cheiro de Denis era mais excitante e vigoroso. Para o olfato de Frisky, era o azul elétrico de um raio de verão.
Ela latiu para mostrar que identificara o cheiro e o guardara em segurança no seu arquivo de cheiros.
— Muito bem, mocinha — disse o moço alto. — Você é capaz de segui-lo?
— Ela vai segui-lo — disse a moça, confiante. — Vamos embora.
— Em uma hora estará escuro.
— Pois é — disse A moça e sorriu. Quando A moça sorria daquele jeito, Frisky sentia que o seu coração era capaz de arrebentar de amor por ela. — Mas não é dos olhos dela que nós precisamos, certo?
O moço alto sorriu.
— Acho que não — disse. — Olhe, devo estar maluco, mas acho que vamos ganhar essa cartada.
— Claro que vamos — disse ela. — Vamos embora, Ben. Vamos aproveitar este restinho de dia... logo, logo, vai escurecer.
Frisky, com o nariz repleto daquele cheiro azul-brilhante, latiu impacientemente.
O JANTAR DE PEDRO chegou pontualmente às seis horas da noite de domingo. As nuvens de tempestade pairavam baixas sobre Delain, e a temperatura já começara a diminuir, mas ainda não havia vento e não caíra um único floco de neve. Do lado oposto da Praça, tremendo nas roupas brancas furtadas de um ajudante de cozinha, Denis estava escondido na sombra mais escura que tinha podido encontrar, olhando ansiosamente para um único quadrado de uma tênue luz amarelada no topo do Obelisco — a luz da vela de Pedro.
É claro que Pedro nada sabia da espreita de Denis — estava tomado de deslumbramento pela idéia de que, vivendo ou morrendo, seria a última refeição que haveria de comer naquela maldita cela de prisão. Como sempre, era carne dura e salgada, batatas meio podres e cerveja aguada, mas ele pretendia comer tudo. Nas últimas três semanas, comera pouco e fizera exercícios para o corpo durante todo o tempo de vigília em que não estava trabalhando no minúsculo tear. Nesse dia, porém, comeu de tudo o que lhe fora trazido. De noite, precisaria de todas as suas forças.
O que vai ser de mim?, perguntou-se de novo, sentado à mesinha e levantando o guardanapo que cobria a refeição. Para onde exatamente irei? Quem irá me acolher? Qualquer um? Todo homem, segundo dizem, deve confiar nos deuses... mas, Pedro, você está confiando tanto que chega a ser ridículo.
Chega. 0 que tiver de ser será. Agora coma e pare de pensar em...
Mas nesse ponto os seus pensamentos agitados se interromperam, porque ao sacudir o guardanapo para desdobrá-lo, sentiu uma leve espetadela, como a picada de uma urtiga.
Franzindo a testa, olhou para baixo e viu uma gotinha de sangue brotando da ponta do seu indicador direito. A primeira coisa em que pensou foi Flagg. Nos contos de fadas, era sempre uma agulha que levava o veneno. Talvez ele tivesse sido envenenado agora por Flagg. Foi o seu primeiro pensamento, e nada tinha de disparatado, por sinal, pois Flagg já tinha feito uso de veneno antes.
Pedro apanhou o guardanapo, viu um pequeno objeto dobrado com manchas escuras de sujeira... e imediatamente tornou a largá-lo. Seu rosto conservou-se plácido e calmo, sem nada deixar transparecer da violenta comoção que explodira dentro dele à vista do bilhete espetado numa dobra interior do guardanapo.
Olhou com naturalidade para a porta, de repente receoso de ver um dos carcereiros ajudantes — ou o próprio Beson — a espiá-lo com desconfiança. Mas não havia ninguém. Logo ao vir para o Obelisco, o príncipe fora objeto de grande curiosidade, avidamente examinado como um peixe raro no aquário de um colecionador — alguns chegaram a levar as namoradas às escondidas para mostrar-lhes o monstro assassino (e teriam sido eles próprios encarcerados por isso, se tivessem sido apanhados). Mas Pedro era um prisioneiro exemplar, e logo eles perderam o interesse. Não havia ninguém olhando para ele agora.
Pedro forçou-se a comer toda a comida, embora não tivesse mais vontade. Não queria correr o mínimo risco de levantar suspeitas — principalmente agora. Não tinha idéia de quem teria mandado o bilhete, nem o que estaria escrito nele, nem por que teria despertado nele aquela febre. Chegar uma mensagem naquele exato momento, poucas horas antes da planejada tentativa de fuga, parecia um presságio. Mas de quê?
Tendo enfim acabado de comer, lançou mais uma olhadela à porta, assegurou-se de que o postigo estava fechado e passou para o quarto de dormir, segurando ainda o guardanapo negligentemente em uma das mãos, quase como se esquecido de que ainda o segurava. No quarto, despregou o bilhete (as mãos lhe tremiam tanto que ele se picou de novo) e o abriu. Estava compactamente escrito dos dois lados, em letras desbotadas e meio infantis, mas bem legíveis. Seu primeiro olhar foi para a assinatura... e ele arregalou os olhos. A mensagem era assinada por Denis — Seu Amigo e Servo para Sempre.
— Denis? — murmurou Pedro, tão espantado que não se deu conta de ter murmurado alto. — Denis?
Voltou ao princípio, e a abertura da carta bastou para fazer pulsar-lhe o coração num acelerado rufo de tambor. A saudação era Meu Rei.
Meu rei,
Como deve saber, nos últimos cinco anos, eu fui mordomo a servisso de seu Irmão, Tomás. Só nesta última semana eu descobri que você não matou seu pai Rolando, o Bom. Eu sei quem foi, e Tomás também sabe. Você ficaria sabendo o nome desse Perverço Açassino se eu tivesse coragem de escrevelo, mas não tenho. Eu converçei com Peyna. Ele foi se juntar aos Exilados com seu Mordono, Orion. Ele me mandou vir ao Castelo e te escrever esta Nota. Peyna diz que os Exilados podem breve se transformar em Rebeldes e que isso não deve acontecer. Ele acha que talves você tenha algum Plano, mas não sabe qual. Ele mandou que eu te preste servisso, e meu Pai também mandou, antes de morrer, e meu coração também manda, porque a nossa Família sempre serviu o Rei e você é o Verdadeiro Rei. Se você tem um plano, eu ajudarei de qualquer modo que possa, mesmo que tenha que morrer. Quando ler esta eu estarei do outro lado da Prassa na sombra olhando o Obelisco onde você está encerrado. Se tiver um Plano, eu te rogo chegue à janela. Se tiver em que escrever jogue um bilhete e eu darei jeito de apanhar mais tarde da noite. Acene com a mão duas vezes se for tentar essa idéia.
Seu amigo Ben está com os Exilados. Peyna disse que ia mandalo. Eu sei onde Ele (Ben) vai estar. Se disser que eu devo buscar ele (Ben) eu posso, em um dia. Ou talves dois, se nevar. Eu sei que jogar um bilhete pode ser arriscado, mas acho que o tempo é curto. Peyna também acha. Eu estarei vigiando e rezando.
Denis
Seu Amigo e Servo para Sempre
PEDRO CUSTOU A PÔR em ordem os pensamentos que se agitavam na cabeça, teimando em voltar sempre a uma pergunta: O que teria visto Denis para mudar de idéia tão completa e radicalmente? Em nome de todos os deuses, o que teria sido?
Aos poucos, acabou por dar-se conta de que isso não tinha importância — Denis vira alguma coisa, e era o que bastava.
Peyna. Denis tinha procurado Peyna, e este tinha pressentido... bem, a velha raposa tinha pressentido alguma coisa. Ele acha que talves você tenha algum Plano, mas não sabe qual. Uma raposa velha mesmo. Não esquecera o seu pedido da casa de boneca e dos guardanapos. Não sabia exatamente o significado daquilo, mas farejara algo no ar. Sim, sem dúvida alguma.
O que fazer então?
Parte dele — uma grande parte — queria prosseguir exatamente como planejara. Ele tinha reunido aos poucos a coragem necessária àquela louca aventura; agora era difícil abrir mão de tudo simplesmente em favor de mais espera. E havia também os sonhos, que o instavam a não perder tempo. Você ficaria sabendo o nome desse Perverço Açassino se eu tivesse coragem de escrevelo, mas não tenho. Pedro sabia, é claro, e isso, mais do que tudo, o convencia de que Denis tinha realmente esbarrado em algo. Pedro refletiu que de um momento para outro Flagg podia acordar para a nova circunstância — e queria estar longe quando isso acontecesse.
Um dia, seria demais para esperar?
Talvez. Talvez não.
Pedro estava dividido, em angustiada indecisão. Ben... Tomás... Flagg... Peyna... Denis... eles giravam-lhe na cabeça como figuras num sonho. O que fazer?
No final, foi o aparecimento do bilhete — não o seu conteúdo — que o convenceu. O fato de ter vindo daquele modo, espetado num guardanapo, exatamente na noite em que pretendia pôr à prova a sua corda de guardanapos... indicava que ele devia esperar. Mas não mais que uma noite. Ben não poderia ajudá-lo.
E Denis, poderia? Como?
De repente, num lampejo, veio-lhe uma idéia.
Pedro estivera sentado na cama, debruçado sobre a nota, a testa franzida. Endireitou-se, os olhos acesos.
Examinou de novo o papel.
Se tiver em que escrever jogue um bilhete e eu darei jeito de apanhalo mais tarde da noite.
Claro, ele tinha em que escrever. Não o guardanapo, porque poderiam dar falta dele. Não o bilhete de Denis, porque era escrito dos dois lados, de margem a margem e de alto a baixo. Mas o pergaminho de Valera.
Pedro voltou à sala de estar. Relanceou a porta e viu que o postigo estava fechado. Podia ouvir vagamente os carcereiros jogando baralho no andar inferior. Chegou à janela e acenou duas vezes, esperando que Denis estivesse mesmo em um lugar lá embaixo e pudesse vê-lo. Tinha de contentar-se com a esperança de que assim fosse.
Pedro voltou ao quarto de dormir, deslocou a laje solta e, depois de tatear e remexer um pouco, retirou o medalhão e o pergaminho. Virou o pergaminho do lado em branco... mas o que ia usar como tinta?
Depois de um momento acudiu-lhe a resposta. O mesmo que Valera, claro.
Pedro forcejou o fino colchão da cama, e com alguns puxões abriu uma costura. O recheio era de palha, e em pouco tempo ele encontrou vários talos compridos que serviriam de penas. Depois abriu o medalhão. Era em forma de coração, e a extremidade era pontuda. Pedro fechou os olhos durante alguns instantes e fez uma breve oração. Depois abriu os olhos e riscou o pulso com a ponta do medalhão. O sangue não tardou em brotar — muito mais do que antes pelo furo do alfinete. Mergulhou a primeira palha no sangue e começou a escrever.
PARADO NA SOMBRA FRIA do outro lado da Praça, Denis viu o vulto de Pedro chegar à janelinha no topo do Obelisco. Viu Pedro levantar os braços acima da cabeça e cruzá-los duas vezes. Então haveria uma mensagem. Para ele, isso dobrava — não, triplicava — o risco, mas ficou contente.
Acomodou-se para esperar, sentindo os pés aos poucos ficarem dormentes, tornando-se insensíveis. A espera pareceu enorme. O pregoeiro anunciou dez horas... depois 11... finalmente 12. As nuvens tinham escondido a lua, mas o ar parecia estranhamente leve — outro sinal da tormenta que se aproximava.
Começava a pensar que Pedro tinha se esquecido dele, ou então tinha mudado de idéia, quando o vulto apareceu de novo à janela. Denis endireitou-se, contraindo-se de dor no pescoço, que mantivera levantado nas últimas quatro horas. Pareceu-lhe ver algo que se projetava descrevendo um arco... e o vulto de Pedro saiu da janela. Alguns instantes mais tarde, a luz se apagou.
Denis olhou à esquerda e à direita, não viu ninguém, reuniu toda a sua coragem e saiu a correr pela Praça. Sabia muito bem que podia haver alguém por ali que ele não tivesse visto — um guarda da ronda mais alerta que o cantor desafinado da noite anterior, por exemplo —, mas quanto a isso não podia fazer nada. Assaltava-o também a horrorizada consciência de todos os homens e mulheres decapitados não longe dali. E se suas almas ainda vagassem pelas redondezas...?
Mas pensar nessas coisas de nada adiantava, e ele tratou de varrê-las da cabeça. A preocupação mais imediata era encontrar a coisa que Pedro atirara. A área ao pé do Obelisco sob a janela de Pedro era um campo de neve sem formas.
Sentindo-se horrivelmente exposto, Denis ficou procurando em torno como um cão de caça incompetente. Não tinha bem certeza do que vira tremeluzindo no ar — fora apenas um segundo —, mas parecera algo sólido. Fazia sentido: Pedro não iria atirar um pedaço de papel, que poderia ter voado para qualquer parte. Mas o que era e onde estava?
À medida que os segundos se escoavam transformando-se em minutos, Denis ia-se sentindo mais e mais frenético. Agachou-se e começou a engatinhar em todas as direções, vasculhando pegadas que se tinham derretido e ganhado dimensões de pegadas de dragão, e agora se recongelavam, duras, azuladas e brilhantes. O suor lhe escorria pelo rosto. E ele começou a ser assaltado por uma idéia recorrente — a de que uma mão lhe cairia no ombro, e quando se voltasse ele veria o sorriso escarninho do mago do rei dentro do seu capuz.
Um pouco tarde para brincar de esconde-esconde, não, Denis?, diria Flagg, e seu sorriso se alargaria, mas seus olhos se acenderiam num diabólico clarão avermelhado. O que você perdeu? Posso ajudá-lo a procurar?
Não pense no nome dele! Pelos deuses, não pense no nome dele!
Mas era difícil evitar. Onde estava a coisa? Puxa vida, onde estava?
Denis engatinhava para lá e para cá, as mãos agora tão entorpecidas quanto os pés. Para lá e para cá, para lá e para cá. Onde estava? Seria bem ruim se ele não conseguisse encontrar o bilhete. Pior ainda, se não nevasse até clarear o dia e, então, alguém mais o encontrasse. Sabiam os deuses o que estaria escrito nele.
Ao longe, ouviu o pregoeiro anunciar uma hora. Agora estava cobrindo o terreno que já percorrera antes, em pânico crescente.
Pare, Denis. Pare, menino.
A voz do pai, clara demais em sua cabeça para deixar qualquer dúvida. Denis estava agachado, o nariz quase encostado no chão. Endireitou-se um pouco.
Não está mais vendo nada, menino. Pare e feche os olhos um momento. E quando os abrir, olhe em torno. Olhe bem em torno.
Denis fechou os olhos com força, depois arregalou-os. Desta vez, olhou em torno quase despreocupadamente, varrendo toda a área nevada e pisoteada em volta do pé do Obelisco.
Nada. Nada absol...
Espere! Ali adiante!
Algo brilhava suavemente.
Denis viu uma curva de metal, projetando-se da neve menos de um centímetro. Ao lado viu uma marca redonda feita por um de seus joelhos — na busca frenética, quase passara por cima da coisa.
Tentou erguê-la da neve, e na primeira tentativa o que fez foi enterrá-la ainda mais. A mão estava tão entorpecida que quase não se fechava. Escavando a neve para pegar o objeto, Denis deu-se conta de que, se seu joelho tivesse assentado em cima dele em vez de ao lado, ele o teria enterrado ainda mais fundo na neve, sem nada perceber — os joelhos estavam tão insensíveis como o resto dele. E assim não o encontraria nunca. Ele ficaria sepultado até o degelo da primavera.
Apalpou-o, forçou os dedos a se fecharem e o retirou. Examinou-o admirado. Era um medalhão — possivelmente de ouro, em forma de coração, com uma corrente presa a ele. O medalhão estava fechado — mas prensado entre as duas faces havia um papel dobrado. Um papel muito antigo.
Denis extraiu o bilhete, fechou delicadamente a mão em torno do velho papel, e enfiou o cordão do medalhão pela cabeça. Rangendo nas juntas, pôs-se de pé e correu de volta em direção às sombras. De certo modo, essa corrida foi a pior parte de toda a peripécia. Nunca em sua vida se sentira tão desprotegido. A cada passo que avançava, as sombras reconfortantes dos prédios do lado oposto da Praça pareciam recuar um passo.
Finalmente, viu-se em relativa segurança e ficou parado por alguns instantes na sombra, ofegando e tremendo. Ao recobrar o fôlego, voltou para o castelo, esgueirando-se pelas sombras do Quarto Beco e entrou pela Porta das Cozinhas. Havia um guarda da ronda na porta do castelo propriamente dito, mas tão relapso em seus deveres como o seu colega da noite anterior. Denis parou à espera, e depois de algum tempo o guarda se afastou. Denis precipitou-se porta adentro.
Vinte minutos depois estava a salvo no depósito de guardanapos. Ali desdobrou o papel e examinou-o.
Um dos lados era coberto por uma escrita arcaica e cerrada. O autor usara uma tinta de estranha cor ferruginosa. Denis não entendeu nada. Virou o papel e arregalou os olhos. Logo reconhecera a “tinta” empregada para escrever a breve mensagem deste lado.
— Ó rei Pedro — gemeu.
A mensagem estava borrada e manchada — a “tinta” não havia secado —, mas ele pôde ler.
Pretendia tentar uma fuga esta noite. Esperarei uma noite. Não há tempo. Perigoso demais. Tenho uma corda. Fina. Pode arrebentar. Curta demais. Em qualquer caso haverá queda. Sete metros. Amanhã meia-noite. Ajude-me a esconder-me se puder. Lugar seguro. Poderei estar ferido. Nas mãos dos deuses. Eu o amo, meu bom Denis. Rei Pedro.
Denis leu a nota três vezes e desatou a chorar... de alegria. A luz que Peyna pressentira agora brilhava luminosa no coração de Denis. Isso era bom, e em breve tudo estaria bem.
Seus olhos voltavam incessantemente à linha Eu o amo, meu bom Denis, escrita com o próprio sangue do rei. Ele não tinha necessidade de acrescentar aquelas palavras para que a mensagem tivesse sentido... e, no entanto, acrescentara.
Pedro, eu morreria mil mortes por você, pensou Denis. Enfiou o bilhete dentro da jaqueta e deitou-se, com o medalhão ainda ao pescoço. Desta vez, custou a pegar no sono. E não dormira muito, quando despertou em sobressalto. A porta do depósito estava se abrindo — o lento ranger das dobradiças pareceu a Denis um grito inumano. Antes que sua mente turvada pelo sono chegasse a perceber que ele fora descoberto, uma sombra escura com olhos chamejantes lançou-se sobre ele.
COMEÇOU A NEVAR POR volta das três da manhã de segunda-feira — Ben Staad viu os primeiros flocos que caíam, quando ele e Naomi estavam na orla das reservas de caça do rei, olhando para o castelo. Frisky estava sentada sobre as patas traseiras, ofegando.
Os humanos estavam cansados, e Frisky estava cansada também, mas ansiosa por seguir — o cheiro fazia-se sentir cada vez mais fresco.
Ela os tinha guiado facilmente da quinta de Peyna à casa abandonada onde Denis passara quatro dias, comendo batatas cruas e entretendo azedos pensamentos sobre nabos que se revelaram mais azedos que os próprios pensamentos. Nessa vivenda deserta dos Baronatos Centrais, o cheiro azul-brilhante que ela seguira até ali estava por toda parte — ela tinha latido com euforia, correndo de uma peça para outra, o focinho no chão, a cauda abanando alegremente.
— Olhe! — disse Naomi. — O nosso Denis andou queimando algo aqui. Estava apontando a lareira. Ben chegou-se e olhou, mas nada descobriu — só viu montes de cinzas que se desfaziam quando ele as remexia. Eram, naturalmente, os ensaios preliminares de Denis na confecção da sua mensagem.
— E agora? — perguntou Naomi. — Daqui ele foi para o castelo, é claro. A questão é: seguimos ou passamos a noite aqui?
Nesse momento, eram seis horas. Lá fora já estava escurecendo.
— Acho melhor seguirmos — disse Ben devagar. — Afinal, foi você que disse que é do focinho de Frisky que nós precisamos, não dos olhos... e eu, por mim, atestaria diante do trono de qualquer rei que Frisky tem um nobre focinho.
Frisky, sentada à porta, latiu como se dizendo que sabia disso.
— Muito bem — disse Naomi.
Ele olhou para ela atentamente. Fora um longo caminho desde o acampamento dos exilados, com muito pouco descanso para os dois. Sabia que deveriam ficar... mas estava tomado de um sofrimento que era quase um frenesi.
— Você pode seguir? — perguntou. — Não diga que pode se não puder, Naomi Reechul.
Ela pôs as mãos nos quadris e olhou para ele arrogantemente.
— Eu poderia seguir mais cem koners depois que você caísse morto, Ben Staad. Ben sorriu.
— Talvez você venha a ter a oportunidade de prová-lo — disse. — Mas antes vamos comer alguma coisa.
Comeram às pressas. Terminada a refeição, Naomi ajoelhou-se junto a Frisky e disse-lhe baixinho que ela devia retomar o rastro. Frisky não precisou que lhe dissessem duas vezes. Os três deixaram a casa da granja, Ben com uma grande mochila às costas, Naomi com uma apenas um pouco menor.
Para Frisky, o cheiro de Denis era como um traço azul na noite, tão brilhante como um fio incandescente por efeito de carga elétrica. Ela se dispôs logo a farejar e parou confusa quando A moça a chamou de volta. Então, voltou; se fosse humana, Frisky teria batido na testa e gemido. Em sua impaciência por seguir, saíra a farejar o rastro que ficara para trás. Por volta de meia-noite, os teria conduzido de volta à casa de Peyna.
— Tudo bem, Frisky — disse Naomi. — Não precisa se apressar.
— Claro — disse Ben. — Leve uma semana ou duas, Frisky. Leve um mês, se quiser.
Naomi lançou um olhar azedo na direção de Ben. Este calou-se — prudentemente, talvez. Os dois ficaram olhando Frisky farejar de um lado para outro, primeiro no pátio da frente, depois ao longo da estrada.
— Ela perdeu o rastro? — perguntou Ben.
— Não, em um ou dois minutos ela pega. — Eu acho, Naomi não disse em voz alta. — É que ela encontrou na estrada um emaranhado de cheiros e tem de fazer a seleção.
— Olhe! — disse Ben, duvidoso. — Ela saiu para o meio do campo. Não pode estar certa, pode?
— Não sei. Será que ele iria pela estrada? Ben Staad era humano, e bateu na testa.
— Não, claro que não. Que idiotice a minha. Naomi sorriu docemente e não disse nada.
No campo, Frisky fez uma parada. Voltou-se para a moça e o moço alto e latiu impaciente para que eles a seguissem. Os huskies anduanos eram os descendentes domesticados dos grandes lobos brancos que outrora atemorizaram os moradores do Baronato do Norte, mas, mesmo domesticados, antes de tudo, eram caçadores e farejadores. Frisky isolara outra vez aquele cheiro azul-brilhante, e estava febril por seguir em frente,
— Vamos — disse Ben. — Espero que ela tenha acertado o rastro.
— É claro que acertou! Olhe!
Apontou, e Ben pôde vagamente distinguir na neve algumas marcas rasas e alongadas. Mesmo no escuro, Ben e Naomi reconheceram as marcas: raquetes de neve. Frisky tornou a latir.
— Vamos logo — disse Ben.
Perto de meia-noite, quando se aproximavam das reservas do rei, Naomi começava a arrepender-se da bravata de poder continuar por 100 koners depois que Ben caísse morto, porque já desconfiava que em pouco tempo aquilo poderia acontecer com ela.
Denis fizera a jornada em menos tempo, mas partira depois de quatro dias de descanso, tinha raquetes de neve e não estivera seguindo um cachorro que às vezes perdia o rastro e tinha de dar voltas para encontrá-lo de novo. Naomi sentia as pernas quentes e como se feitas de borracha. Os pulmões lhe queimavam. Sentia uma pontada do lado esquerdo. Tinha engolido alguns punhados de neve, mas não conseguira aplacar uma sede abrasadora.
Frisky, que não carregava o peso de uma mochila e corria levemente por sobre a crosta gelada da neve, não estava nem um pouco cansada. Naomi conseguia caminhar sobre a crosta em trechos curtos, mas às vezes pisava um ponto quebradiço e afundava em neve fofa até os joelhos... e algumas vezes até os quadris. Uma vez afundou até a cintura e ficou a debater-se numa fúria extenuada, até que Ben deslizou até ela e a desatolou.
— Quem dera... um trenó — ela ofegou.
— Quem dera... a lua — ele ofegou em resposta, sorrindo apesar do seu próprio cansaço.
— Muito engraçado — disse ela, engasgada. — Ah-ah. Você devia ser o bobo da corte, Ben Staad.
— As reservas do rei são logo ali. Menos neve... mais fácil.
Curvou-se para a frente, as mãos nos joelhos, arfando para encher os pulmões. Naomi achou de repente que ela fora egoísta e rude, ao pensar somente no que ela mesma sentia, quando Ben devia estar mais perto ainda do ponto de exaustão — era muito mais pesado do que ela, e o peso da mochila que carregava era maior. Rompia a crosta da neve quase a cada passo, saltando através dos longos campos como um homem correndo em água funda, no entanto não se queixara nem diminuiu a marcha.
— Ben, você está bem?
— Não — ele arquejou, sorrindo. — Mas eu chego lá, linda criança.
— Eu não sou criança! — disse ela zangada.
— Mas é linda — disse ele, e levando um polegar à ponta do nariz, fez-lhe um carinho.
— Ah, eu já pego você por isso...
— Mais tarde — ele ofegou. — Vamos ver quem chega primeiro ao mato. Venha. Apostaram corrida, com Frisky acompanhando o rastro à frente deles, e ele ganhou, o que a deixou ainda mais zangada... mas também a fez admirá-lo.
AGORA ESTAVAM PARADOS, olhando os 70 koners de campo aberto entre a orla da mata onde um dia o rei Rolando abatera um dragão e os muros do castelo onde ele próprio fora abatido. Alguns flocos mais de neve desceram do céu remoinhando... e mais alguns... e de repente, magicamente, o ar estava cheio de neve.
Apesar do cansaço, Ben conheceu um momento de paz e alegria. Olhou para Naomi e sorriu. Ela tentou fazer cara feia, mas isso não lhe assentava e, então, sorriu também. Depois ela pôs a língua de fora e tentou apanhar um floco de neve. Ben riu silenciosamente.
— Como foi que ele entrou, se é que entrou? — perguntou Naomi.
— Não sei — disse Ben. Sempre vivera no campo e nada sabia da rede de esgotos do castelo. Provavelmente tanto melhor para ele, dirão vocês, e com razão. — Talvez a sua cadela campeã possa mostrar-nos.
— Acha mesmo que ele entrou, Ben?
— Acho — disse Ben. — E você, Frisky, o que acha?
Ao som do seu nome, Frisky levantou, seguiu o rastro alguns metros e voltou a cabeça para eles.
Naomi olhou para Ben. Ele sacudiu a cabeça.
— Ainda não.
Naomi chamou Frisky baixinho e ela voltou, choramingando.
— Se ela soubesse falar, diria que está com medo de perder a pista. A neve vai cobri-la.
— Não vamos esperar muito. Denis tinha as raquetes, mas nós vamos ter algo que ele não teve, Naomi.
— O quê?
— Proteção.
APESAR DO CRESCENTE desassossego de Frisky por ver-se contida, Ben fez com que esperassem uns 15 minutos. A essa altura o ar se transformara numa nuvem branca em movimento. A neve congelava no cabelo castanho de Naomi e no cabelo louro de Ben;
Frisky envergava uma estola de arminho feita de gelo. Já não avistavam os muros do castelo à frente deles.
— Muito bem — disse Ben baixinho. — Vamos.
Cruzaram o terreno aberto atrás de Frisky. A grande cadela agora avançava devagar, o nariz todo o tempo na neve, de vez em quando levantando nela pequenos repuxos gelados. O cheiro azul-brilhante estava amortecendo, coberto pela matéria branca que vinha do céu.
— Talvez tenhamos esperado tempo demais — disse Naomi baixinho ao lado dele. Ben não disse nada. Sabia disso, e por isso sentia o coração apertado.
Então, uma massa escura avultou da branquidão — o muro do castelo. Naomi adiantou-se um pouco. Ben estendeu a mão e segurou-lhe o braço.
— O fosso — disse. — Não se esqueça que ele está por aqui em algum lugar. Se a gente passa por cima da borda, cai no gelo e quebra o pesc...
Nesse instante, Naomi arregalou os olhos, alarmada, e desvencilhou-se dele.
— Frisky!— ciciou. — Ei! Frisky! Perigo! Buraco! Precipitou-se atrás da cadela.
A garota é completamente biruta, pensou Ben com certa admiração. Em seguida, ele precipitou-se atrás dela.
Mas não precisava ter-se preocupado. Frisky parara na borda do fosso. Tinha o focinho enterrado na neve e abanava o rabo alegremente. Mordeu alguma coisa e puxou-a para fora da neve solta. Voltou-se para Naomi, os olhos perguntando: Então, sou ou não sou a melhor? O que me diz?
Naomi riu e abraçou-a.
Ben olhou de relance o muro.
— Psiu! — sussurrou para ela. — Se os guardas ouvirem você, estamos bem arranjados! Onde pensa que estamos? No seu jardim?
— Ora! Se eles ouvissem alguma coisa, pensariam que eram espíritos da neve e correriam a esconder-se nas saias das mamães.
Mas também ela falou cochichando. Depois, enterrou o rosto no pêlo de Frisky e tornou a dizer que menina boa ela era.
Ben afagou a cabeça de Frisky. Graças à neve, nenhum deles teve a horrível impressão de exposição que Denis experimentara ao sentar-se naquele mesmo lugar, descalçando as raquetes que Frisky acabava de achar.
— Um nariz divino mesmo — disse Ben. — Mas o que aconteceu depois que ele tirou as raquetes, Frisky? Será que ele criou asas e voou por cima do muro? Para onde ele foi a partir daqui?
Como que em resposta, Frisky soltou-se dos dois e desceu aos tropeções e escorregões a rampa íngreme do fosso congelado.
— Frisky! — chamou Naomi em voz baixa, mas assustada.
Frisky só parou ao atingir o gelo e levantou os olhos para eles, com as patas enterradas na neve fresca. Sacudia a cauda de leve, e seus olhos imploravam que eles a acompanhassem. Não latiu; de algum modo sabia que não devia, mesmo sem Naomi tê-la advertido para fazer silêncio. Mas latiu em pensamento. O cheiro ainda estava ali, e ela queria segui-lo antes que desaparecesse por completo, como iria acontecer em mais alguns minutos.
Naomi olhou para Ben interrogativamente.
— Sim — disse ele. — Claro. Temos que ir. Venha. Mas tem de segurá-la... não deixe que ela se adiante. Há perigo aqui. Eu sinto.
Estendeu-lhe a mão. Naomi segurou-a e os dois deslizaram juntos para dentro do fosso.
Frisky guiou-os devagar por sobre o gelo em direção ao muro do castelo. Agora estava literalmente desenterrando o rastro, o focinho abrindo um sulco na neve. Ele começara a ser encoberto por um cheiro espesso e repulsivo — água morna e suja, lixo e excremento.
Denis sabia que o gelo iria se tornando perigosamente frágil quando ele se aproximasse do escoadouro. Mesmo que não soubesse, pudera divisar quase um metro de água descoberta junto ao muro.
Para Ben, Naomi e Frisky, nada era tão fácil. Eles tinham suposto simplesmente que se o gelo era firme ao longo da borda externa do fosso, devia ser firme em toda a sua largura. E os olhos lhes valiam pouco na neve que caía densa.
Dos três, era Frisky quem tinha a vista mais fraca, e era ela que ia à frente. Ouvidos ela os tinha bem aguçados, e ouvira o gelo gemer por baixo da neve fresca... mas estava por demais concentrada no rastro para dar muita atenção àqueles leves rangidos... até que o gelo cedeu debaixo dela e ela mergulhou no fosso com um chape.
— Frisky! Fr...
Ben tapou-lhe a boca com a mão. Ela se debateu para desvencilhar-se dele. Ben, porém, já percebera o perigo e a conteve com firmeza.
Naomi não precisava ter se afligido. É claro que os cães sabem nadar, e com sua densa pelagem oleosa Frisky estava mais segura na água do que estaria qualquer dos humanos. Ela nadou quase até o muro do castelo, por entre blocos de gelo desfeito e grumos de neve com aspecto de creme batido que rapidamente se transformavam em lodo escuro e desapareciam. Levantou a cabeça, farejando, procurando o rastro... e quando o localizou, fez meia-volta e nadou em direção a Ben e Naomi. Encontrou a borda de gelo. Suas patas a romperam, e ela tentou de novo. Naomi soltou uma exclamação.
— Quieta, Naomi, ou desse jeito estaremos nas masmorras ao amanhecer — disse Ben. — Segure os meus tornozelos.
Soltou-se dela e deitou-se de bruços. Naomi agachou-se atrás dele e agarrou suas botas. Tão perto do gelo, Ben podia ouvi-lo gemer e estalar. Podia ter sido um de nós, pensou, e teria sido o diabo.
Abriu um pouco as pernas para distribuir melhor o peso, depois agarrou Frisky pelas patas dianteiras logo abaixo do peito largo e forte.
— Está segura, mocinha — disse Ben. — Espero. E fez força.
Por um momento, imaginou que o gelo ia continuar quebrando sob o peso de Frisky, enquanto ele a puxasse para a frente — e, então, primeiro ele e, depois, Naomi iriam seguir Frisky para dentro do fosso. Cruzando aquele fosso a caminho do castelo para brincar com seu amigo Pedro num dia de verão, com o céu azul e nuvens brancas refletidas na superfície, Ben sempre o tinha achado belo como uma pintura. Nunca imaginara que pudesse vir a morrer nele numa noite escura, em meio a uma nevasca.
E o cheiro era horrível.
— Puxe-me para trás! — disse. — Esse diabo de cadela pesa uma tonelada!
— Não fale mal da minha cadela, Ben Staad!
Ben tinha os olhos apertados pelo esforço, os lábios entreabertos sobre os dentes cerrados.
— Mil perdões. Mas se você não começar a me puxar, acho que vou tomar um banho.
De algum modo ela conseguiu, embora Ben e Frisky juntos devessem pesar umas três vezes mais que ela. O corpo escarrapachado de Ben cavou um canal na neve fofa; uma pirâmide de neve formou-se entre suas pernas, do modo como se forma no ângulo de um arado de madeira.
Finalmente — a Ben e Naomi pareceu “finalmente”, embora na verdade não fosse mais que uma questão de segundos — o peito de Frisky parou de quebrar o gelo e deslizou para cima dele. No instante seguinte, suas patas traseiras cavavam em busca de apoio. Mais um pouco, e ela estava de pé, sacudindo-se vigorosamente. A água suja do fosso borrifou o rosto de Ben.
— Argh! — ele fez uma careta, enxugando-a com a mão. — Muito obrigado, Frisky! Mas Frisky não lhe prestou atenção. Estava olhando novamente para o muro do castelo. Embora o gelo já se estivesse formando em seu pêlo em forma de espigas sujas, era no rastro que ela estava interessada. Tinha-o farejado claramente, acima dele, mas não muito acima. Havia ali uma mancha escura. E não havia matéria branca gelada anticheiro.
Ben estava se pondo de pé e batia a neve da roupa.
— Desculpe por eu ter gritado daquele jeito — cochichou Naomi. — Se fosse outro cachorro qualquer e não Frisky... Será que alguém me ouviu?
— Se tivessem ouvido, teriam pedido a senha — Ben cochichou em resposta. — Pelos deuses, foi por pouco.
Agora avistavam a água descoberta ao pé do velho muro de pedra do castelo de Delain, porque a tinham procurado.
— E agora?
— Não podemos continuar — Ben sussurrou —, é claro. Mas o que foi que ele fez, Naomi? Para onde foi a partir daqui? Talvez tenha mesmo voado.
— E se nós...
Mas Naomi nunca completou seu pensamento, porque nesse instante Frisky tomou o caso em suas próprias patas. Todos os seus ancestrais tinham sido excelentes caçadores, e ela tinha o dom no sangue. Tinha sido posta naquele maravilhoso, fascinante rastro azul-brilhante, e nada a faria abandoná-lo. Assim, firmou as patas traseiras no gelo, retesou os músculos tonificados no trenó, e saltou no escuro. Como eu disse, os olhos eram a parte mais fraca do seu equipamento sensório, e o salto foi realmente cego: da borda do gelo ela não enxergava o buraco escuro do cano de esgoto.
Mas já o tinha visto da água, e mesmo que não tivesse, contava com seu faro, e sabia que ele estava ali.
É FLAGG, PENSOU DENIS, tonto de sono, quando aquele vulto escuro de olhos chamejantes lançou-se sobre ele. É Flagg, ele me descobriu e vai me dilacerar a garganta com os dentes...
Tentou gritar, mas não saiu nenhum som.
O intruso abriu a boca; Denis viu os enormes dentes brancos... e sentiu uma grande língua quente a lamber-lhe o rosto.
— Ufa! — disse Denis, tentando afastar aquela coisa. Duas patas pousaram em seus ombros, e Denis caiu de costas no seu colchão de guardanapos como um lutador prostrado. Lepe-lepe, lambe-que-lambe. — Ufa! — Denis repetiu, e aquela forma escura e felpuda emitiu uma espécie de ronco baixo e amistoso, como quem diz: Eu sei, eu também estou contente de ver você.
— Frisky! — uma voz abafada chamou da penumbra. — Abaixe, Frisky! E bico calado!
O vulto escuro não era Flagg; era um cão enorme — um cão por demais parecido com um lobo para inspirar tranqüilidade, pensou Denis. À voz da moça, recuou e sentou-se, olhando alegremente para Denis; a cauda batia com golpes surdos na cama de guardanapos de Denis.
Outros dois vultos no escuro, um mais alto que o outro. Não podia ser Flagg, era evidente. Guardas do castelo, então. Denis agarrou o cabo do punhal. Se os deuses ajudassem, talvez se livrasse dos dois. Se não, trataria de morrer com dignidade a serviço do seu rei.
Os dois vultos tinham parado a certa distância dele.
— Venham! — disse Denis e levantou o punhal (na verdade não era muito mais que um canivete, e estava bastante enferrujado e cego) num gesto de desafio. — Os dois primeiro, depois o seu cão do inferno!
— Denis? — A voz era vagamente familiar. — Denis, será que o encontramos mesmo?
Denis começou a baixar o punhal, depois levantou outra vez. Só podia ser um truque. Tinha de ser. Mas a voz se parecia muito com...
— Ben? — cochichou. — Ben Staad?
— É Ben — confirmou o vulto mais alto, e o coração de Denis encheu-se de contentamento. O vulto avançou. Alarmado, Denis tornou a erguer o punhal.
— Espere! Tem uma luz?
— Aço e pederneira, sim.
— Acenda.
— Certo.
Depois de um momento, uma grande faísca amarela, certamente perigosa naquela peça apinhada de guardanapos secos de algodão, lampejou no escuro.
— Venha, Ben — disse Denis, guardando seu arremedo de punhal.
Pôs-se de pé, tremendo de alívio e satisfação. Ben estava ali. Por qual mágica, Denis não sabia — só sabia que de algum modo tinha acontecido. Prendeu um pé nos guardanapos e tropeçou para a frente, mas não houve perigo de cair, porque os braços de Ben o amparavam num vigoroso abraço. Ben estava ali e tudo sairia bem, pensou Denis, e fez tudo o que podia para não romper em lágrimas pouco varonis.
SEGUIU-SE UMA GRANDE troca de histórias — acho que a maior parte vocês já ouviram, e as que não ouviram podem ser rapidamente contadas.
O salto de Frisky foi um tiro certeiro. Ela entrou direto no cano e voltou-se para ver se Naomi e Ben a seguiam.
Do contrário, Frisky teria acabado pulando de volta sobre o gelo — teria sido para ela uma grande decepção, mas ela não deixaria sua dona nem pelo rastro mais fantástico do mundo. Frisky sabia disso; Naomi não tinha tanta certeza. Não se atreveu a chamar Frisky de volta, com receio de ser ouvida pelos guardas. Então resolveu ir atrás. Não abandonaria Frisky, e se Ben tentasse impedi-la, ela o derrubaria com uma rasteira.
Não precisava ter se preocupado. No instante em que viu o cano, Ben compreendeu aonde Denis tinha ido.
— Nobre focinho, Frisky — disse outra vez. Voltou-se para Naomi. — Acha que chega lá?
— Se eu tomar distância e der uma corrida, chego.
— Veja bem onde vai pisar, ou vai levar um -banho. E essas roupas pesadas vão levá-la para o fundo num instante.
— Tudo bem.
— Deixe que eu vá primeiro — disse Ben. — Se for preciso, talvez possa agarrá-la. Recuou uns passos e saltou com tanto ímpeto que quase arrancou a tampa da cabeça na curva superior do cano. Frisky latiu uma vez, excitada.
— Cale-se, bicho — disse Ben.
Naomi afastou-se até a borda do fosso, parou por um momento (a essa altura a neve caía tão densa que Ben não podia vê-la), depois correu. Ben prendeu a respiração, torcendo para que ela não avaliasse mal a borda do gelo firme. Se ela avançasse demais antes de saltar, nem os braços mais longos do mundo poderiam alcançá-la.
Mas ela calculou com perfeição. Ben não precisou segurá-la; só o que teve de fazer foi sair do caminho quando ela atingiu o cano. Nem mesmo bateu com a cabeça, como fizera Ben.
— O pior de tudo era o mau cheiro. — disse Naomi, quando contaram a história ao maravilhado Denis. — Como foi que você agüentou?
— Bem, eu fiquei lembrando a mim mesmo o que me aconteceria se eu fosse apanhado — disse Denis. — Cada vez que eu fazia isso, o ar parecia cheirar um pouco melhor.
Ben riu e balançou a cabeça, e Denis ficou olhando para ele por algum tempo com olhos brilhantes. Depois, olhou outra vez para Naomi.
— Mas o cheiro era mesmo horrível — concordou. — Eu me lembro que quando eu era pequeno ele fedia, mas não tanto assim. Talvez as crianças não sintam tanto os maus cheiros.
— Acho que pode ser isso — disse Naomi.
Frisky, deitada numa pilha de guardanapos reais com o focinho entre as patas, movia os olhos de um para outro, à medida que cada um falava. Entendia muito pouco do que estavam dizendo, mas se entendesse e se soubesse falar, teria dito a Denis que as suas percepções de fedor não tinham mudado desde o seu tempo de menino. O cheiro que tinham sentido fora, naturalmente, o dos últimos restos da areia-de-dragão em extinção. Fora muito mais forte para Frisky do que para A moça ou para o moço alto. O rastro de Denis continuava li, agora principalmente em gotas e respingos nas paredes curvas (os pontos que Denis tocara com as mãos; o fundo dos canos era coberto de água morna e pútrida que lavara todo o rastro). Era o mesmo azul-brilhante. O outro cheiro era um verde fosco coriáceo — Frisky sentiu medo dele. Sabia que alguns cheiros podem matar, e sabia que, não muito tempo antes, aquele fora um desses cheiros. Mas agora estava perdendo a potência, e de qualquer modo o rastro de Denis se afastava dos seus pontos de maior concentração. Não muito antes de chegarem ao ralo por onde Denis saíra dos esgotos, ela perdera todo o cheiro verde — e nunca em sua vida se sentira tão feliz por perder um cheiro.
— Não encontraram ninguém? Ninguém mesmo? — perguntou Denis, ansioso.
— Ninguém — disse Ben. — Eu vim um pouco na frente para reconhecer o terreno. Vi guardas duas vezes, mas sempre tivemos tempo de sobra para esconder-nos antes que nos vissem. Aliás, acho que podíamos ter vindo direto para cá, passado por vinte guardas, e só teríamos sido interpelados uma ou duas vezes. Quase todos estavam bêbados.
Naomi confirmou com a cabeça.
— Guardas da ronda — disse. — Bêbados. E não em piquete na fronteira ao norte de algum baronatozinho vagabundo de que jamais alguém ouviu falar; bêbados no castelo. Bem aqui no castelo!
Denis concordou em tom sombrio, recordando o guarda desafinado e que assoava o nariz.
— Imagino que devemos nos sentir satisfeitos por isso. Se a guarda do castelo fosse hoje o que era no tempo de Rolando, estaríamos todos com Pedro no Obelisco. Mesmo assim, nada disso me agrada.
— Uma coisa eu garanto — disse Ben em voz baixa. — Se eu fosse Tomás, tremeria nas botas cada vez que olhasse para o norte, se o que nós vimos esta noite é tudo o que ele tem em torno dele.
Naomi, ouvindo isso, mostrou-se perturbada.
— Peça aos deuses para que as coisas não cheguem a esse ponto — disse. Ben assentiu.
Denis estendeu a mão e afagou a cabeça de Frisky.
— Você me seguiu desde a casa de Peyna, hein? Bichinho esperto, sim senhor. Frisky abanou a cauda, contente.
— Eu gostaria de ouvir essa história do rei sonâmbulo, Denis, se você quiser contá-la outra vez — pediu Naomi.
Denis contou a sua história, mais ou menos como a contara a Peyna e como eu a contei a vocês, e eles escutaram tão fascinados como crianças ouvindo a história do lobo falante com a touca da vovozinha.
QUANDO ACABOU, ERAM sete horas. Lá fora, um fulgor cinzento e embaçado tinha envolvido Delain. Aquela luz pastosa da tormenta era tão clara às sete quanto seria ao meio-dia, pois o maior temporal daquele inverno — talvez o maior da história — abatera-se sobre Delain. O vento uivava em torno dos telhados do castelo como uma horda de demônios. Mesmo ali embaixo os fugitivos podiam ouvi-lo. Frisky ergueu a cabeça e ganiu inquieta.
— O que vamos fazer agora? — perguntou Denis.
Ben, que lera e relera uma porção de vezes o bilhete de Pedro, disse:
— Até a noite, nada. A esta hora o castelo está acordado, e não há a menor possibilidade de sairmos sem sermos vistos. Vamos dormir. Recuperar as forças. E, à noite, antes da meia-noite...
Ben fez uma breve preleção. Naomi sorriu; os olhos de Denis brilharam de emoção.
— Isso! — disse Denis. — Pelos deuses! Você é um gênio, Ben!
— Calma lá, eu não diria tanto — disse Naomi, mas a essa altura o seu sorriso era tão largo que parecia dividir-lhe a cabeça em dois. Ela estendeu os braços, enlaçou-os em torno de Ben e deu-lhe um beijo estalado.
Ben adquiriu um tom alarmante de vermelho (como se estivesse à beira de “explodir os miolos”, como se dizia em Delain naqueles tempos remotos) — mas devo dizer que também parecia extasiado.
— Será que Frisky vai nos ajudar? — perguntou Ben quando conseguiu balbuciar alguma coisa.
Ao ouvir o seu nome, Frisky ergueu a cabeça outra vez.
— Claro que vai. Mas precisamos...
Discutiram o novo plano por mais algum tempo, depois a parte inferior do rosto de Ben quase pareceu se desmanchar num enorme bocejo. Naomi também parecia exausta. Como devem lembrar-se, havia mais de 24 horas que estavam acordados e vieram de muito longe caminhando.
— Chega — disse Ben. — É hora de dormir.
— Viva! — disse Naomi, começando a arrumar mais guardanapos num colchão para si mesma junto a Frisky. — Tenho a sensação de que as minhas pernas...
Denis pigarreou polidamente.
— O que é? — perguntou Ben.
Denis olhou as mochilas — a grande de Ben, a de Naomi um pouco menor.
— Por acaso vocês não têm aí... a... alguma coisa para comer?
Impaciente, Naomi disse:
— É claro que temos! O que acha que... — Aí, lembrou-se de que Denis deixara a casa de Peyna seis dias antes, e que o mordomo vivia fugindo e se escondendo desde então. Estava pálido, parecia subnutrido, tinha o rosto fino e encovado. — Puxa, Denis, desculpe, que idiotice a nossa! Desde quando não come?
Denis pensou um pouco.
— Não me lembro bem — respondeu. — Mas a última vez que comi sentado foi no almoço, uma semana atrás.
— Por que não disse logo, seu tolo? — exclamou Ben.
— Acho que foi pela emoção de ver vocês — disse Denis e sorriu. Enquanto olhava os dois abrirem as mochilas e remexerem no que sobrara das suas provisões, seu estômago gorgolejou ruidosamente. Sua boca encheu-se de saliva. De repente ocorreu-lhe um pensamento.
— Será que vocês trouxeram nabos?
Naomi voltou-se para ele, admirada.
— Nabos? Eu não trouxe nenhum. E você Ben?
— Não.
Um sorriso meigo e profundamente feliz espalhou-se no rosto de Denis.
— Que bom — comentou.
FOI UMA TREMENDA tempestade, e até hoje se fala dela em Delain. Mais de um metro e meio de neve havia caído, quando uma precoce e terrível escuridão envolveu o recinto do castelo. Quase dois metros de neve fresca em um dia é um bocado, e o vento formava montes muitíssimo mais altos. Quando escureceu, o vento não era ventania; era um furacão. Em algumas partes ao longo das paredes do castelo, a neve se amontoara a oito metros de altura, cobrindo não só as janelas dos dois primeiros andares como até as do terceiro.
Vocês poderiam pensar que isso era bom para os planos de fuga de Pedro, e poderia ter sido, se o Obelisco não se elevasse isolado na Praça. Mas era assim, e ali era onde o vento soprava com mais intensidade. Por intenso que fosse, nenhum homem teria resistido àquele vento: teria saído rolando às cambalhotas até chocar-se contra a primeira parede de pedra do lado oposto da Praça. E o vento tinha ainda um outro efeito: era como uma vassoura gigantesca. Tão logo a neve caía, ele a varria da Praça. Quando anoiteceu, havia enormes montes de neve acumulada de encontro ao castelo que bloqueavam a maioria das vielas no lado oeste do recinto das muralhas, mas a Praça estava completamente limpa. Só havia as pedras do calçamento gelado esperando para quebrar os ossos de Pedro, se a sua corda arrebentasse.
E agora eu devo dizer-lhes que a corda de Pedro arrebentaria inevitavelmente. Quando ele a testara, ela agüentou o seu peso... mas havia um fato com respeito àquela coisa misteriosa chamada “tensão de ruptura” que Pedro não sabia. Yosef também não sabia. Os condutores de bois, esses sabiam, e se Pedro lhes tivesse perguntado, eles teriam ensinado um ditado antigo, só conhecido dos marujos, madeireiros, costureiras e de todos os demais que trabalham com cordas ou fios: Quanto mais comprida a corda, mais facilmente ela se parte.
A corda experimental de Pedro não chegava a dois metros de comprimento, e agüentara.
A corda a que ele pretendia confiar a vida — aquela corda finíssima — tinha cerca de 86 metros.
Era inevitável que ela arrebentasse, eu lhes digo, e as pedras embaixo esperavam para recebê-lo, quebrar-lhe os ossos e tirar-lhe a vida.
HOUVE MUITAS DESGRAÇAS e quase-desgraças naquele longo dia tempestuoso, assim como houve muitos atos de heroísmo, uns bem-sucedidos, outros condenados ao fracasso. Algumas casas de fazenda nos Baronatos Centrais foram derrubadas pelo vento, como a dos Porquinhos preguiçosos pelo sopro do lobo faminto naquela antiga história. Alguns dos que ficaram assim desabrigados lograram a duras penas atravessar os brancos descampados e chegar ao recinto do castelo, amarrados entre si com cordas por segurança; outros se desviaram para a Grande Estrada de Delain e se perderam nos ermos nevados — seus corpos congelados e mutilados pelos lobos famintos só na primavera seriam descobertos.
Mas, em torno de sete horas da noite, a neve finalmente começara a rarear, e o vento a amainar. A comoção chegava ao fim, e o castelo recolheu-se cedo. Pouco mais havia para fazer. Abafaram-se lumes, aconchegaram-se crianças, beberam-se as últimas xícaras de chá Campestre, orou-se.
Uma a uma, as luzes se apagaram. O pregoeiro anunciou o mais alto que podia, mas às oito horas o vento ainda lhe arrancou a voz da boca, e às nove também; só às dez ele pôde novamente ser ouvido, mas quase todos já estavam dormindo.
Tomás também estava dormindo — mas seu sono não era tranqüilo. Nessa noite, não havia Denis para fazer-lhe companhia e confortá-lo: Denis continuava em casa, doente. Diversas vezes Tomás pensou em mandar um pajem saber notícias dele (ou ir ele mesmo pessoalmente; gostava muito de Denis), mas sempre surgia algum impedimento — papéis para assinar... petições para escutar... e, naturalmente, garrafas de vinho para beber. Tomás esperava que Flagg viesse dar-lhe uma poção para ajudá-lo a dormir... mas desde a infrutífera viagem ao norte, o bruxo vinha se mostrando estranho e distante. Era como se Flagg desconfiasse que algo andava mal, sem saber bem o que era. Tomás esperava que o mago aparecesse, mas não se atrevia a convocá-lo.
Como sempre, o vento uivante lembrou a Tomás a noite da morte do pai, e ele receou ter dificuldade para adormecer... e, se dormisse, de ter pesadelos horríveis, aqueles sonhos em que o pai gritava desvairado até explodir em chamas. Por isso, Tomás fez o que era de costume: passou o dia com um copo de vinho sempre à mão, e se eu lhes dissesse quantas garrafas aquele menino consumiu antes de finalmente, às dez horas, se deitar, provavelmente não me acreditariam — por isso, não vou dizer. Mas foi uma boa quantidade.
Estendido, infeliz em seu sofá, desejando que Denis estivesse no seu lugar costumeiro sobre a pedra da lareira, Tomás pensou: Minha cabeça dói e meu estômago está embrulhado... Será que ser rei vale tudo isso? Duvido. Vocês também duvidariam... Mas Tomás, antes de poder duvidar mais, caiu num sono profundo.
Dormiu por quase uma hora... depois se levantou e começou a caminhar. Saiu pela porta e seguiu pelos corredores, como um espectro em sua longa camisola branca. Nessa noite, uma criada atrasada carregando uma pilha de lençóis o viu, e ele se parecia tanto com o velho rei Rolando, que a criada deixou cair os lençóis e saiu em disparada aos gritos.
Em seu sonho tenebroso, Tomás ouviu os gritos e julgou que eram os do pai.
Continuou a andar, virou no corredor menos usado. Parou a meio caminho e empurrou a pedra secreta. Entrou na passagem, fechou a porta atrás de si, seguiu até o fim do túnel. Fez deslizar os painéis atrás dos olhos de vidro de Niner e, embora ainda estivesse dormindo, aproximou o rosto dos buracos, como se espiando a sala de estar do pai morto. E aqui vamos deixar por algum tempo o coitado, com o cheiro de vinho a envolvê-lo e lágrimas de remorso a correr-lhe dos olhos dormentes e pelas faces abaixo.
Às vezes, esse pretenso rei era um menino cruel, muitas vezes um menino triste, e fora quase sempre um menino fraco... mas ainda agora lhes digo: não acho que ele fosse realmente um menino mau. Se vocês o detestam pelo que ele fez — e pelo que deixou de fazer —, eu posso compreender; mas se ao mesmo tempo não sentirem uma certa pena dele, isso me surpreenderá.
ÀS 11H15 DESSA noite tenebrosa, a tempestade soprou um último arquejo convulsivo. Uma tremenda rajada varreu o castelo, a mais de 150 quilômetros por hora. Como uma pancada de uma grande mão, rasgou as nuvens que se adelgaçavam no alto. Uma lua fria e diluída apareceu na brecha.
No Terceiro Beco Leste, havia uma torre de pedra atarracada que era a igreja dos Grandes Deuses. Datava de tempos imemoriais. Muita gente ali fazia as suas devoções, mas agora ela estava vazia. Ainda bem. A torre não era muito alta — nem se aproximava da altura do Obelisco —, mas mesmo assim se projetava bem acima das construções vizinhas do Terceiro Beco Leste, e o dia inteiro fora castigada pela força ininterrupta dos ventos tempestuosos. Aquela última rajada foi demais. Os nove metros superiores — tudo pedra — simplesmente voaram, como um chapéu de espantalho numa ventania. Parte caiu no beco; parte atingiu as construções vizinhas. Houve um enorme estrondo.
A maior parte da população do recinto das muralhas, cansada das emoções do temporal e já em sono profundo, não se deu conta da queda da igreja dos Grandes Deuses (embora, na manhã seguinte, se assombrasse enormemente com os escombros cobertos de neve). A maioria simplesmente resmungou, virou-se na cama e voltou a dormir.
Alguns guardas da ronda — os que não estavam bêbados demais para importar-se — ouviram o barulho e, naturalmente, correram para ver o que era. Não contando esses poucos, a queda da torre passou quase totalmente despercebida quando aconteceu... mas houve mais alguns que ouviram, e a esta altura vocês já conhecem todos eles.
Ben, Denis e Naomi, que se preparavam para a tentativa de salvar o verdadeiro rei, puderam ouvi-la do depósito de guardanapos, e se entreolharam espantados.
— Não se preocupem — disse Ben, depois de um momento. — Não sei o que foi isso, mas não interessa. Vamos em frente.
Beson e seus ajudantes, todos embriagados, não ouviram o desmoronamento da igreja dos Grandes Deuses, mas Pedro sim. Estava sentado no chão de sua alcova, passando devagar entre os dedos a sua corda entretecida, ansiosamente à procura de pontos fracos. Ao ouvir o estrondo, abafado pela neve, de pedras que caíam, ergueu a cabeça e foi depressa à janela. Não viu nada: o que quer que tivesse ruído, havia sido do outro lado do Obelisco. Depois de refletir por algum tempo, voltou à sua corda. Era quase meia-noite agora, e ele chegara mais ou menos à mesma conclusão que o seu amigo Ben. Não interessava. A sorte estava lançada. Agora era ir em frente.
Na escuridão da passagem secreta, Tomás ouviu o ribombo abafado do desabamento e acordou. Ouviu os surdos latidos dos cães, vindos do andar de baixo, e horrorizado deu-se conta de onde estava.
E mais outro que dormia um sono leve e sonhava sonhos aflitos acordou com a queda da torre. Acordou, mesmo estando nas entranhas profundas do castelo.
— Desgraça! — gritou uma das cabeças do papagaio.
— Fogo, enchente e fuga!— gritou a outra.
Flagg tinha acordado. Eu lhes disse que às vezes o mal é cego, e é verdade. Às vezes, sem motivo algum, o mal é aplacado e adormece. Mas, agora, Flagg estava bem desperto.
FLAGG VOLTARA DA sua viagem ao norte com um pouco de febre, um forte resfriado e a mente perturbada.
Algo vai mal, algo vai mal. As próprias pedras do castelo pareciam cochichar-lhe... mas Flagg não atinava o que poderia andar mal. Só tinha certeza de algo: de que aquele “algo” tinha dentes afiados. Ele o sentia como um cachorro-do-mato ou uma fuinha correndo ao redor de seu cérebro, mordendo aqui e ali. Sabia exatamente quando o bicho começara a correr e a morder: fora quando do regresso da fracassada expedição à caça dos rebeldes. Porque... porque...
Porque os rebeldes deviam ter estado lá!
Não estavam, e Flagg odiava ser logrado. Pior, odiava pensar que podia ter-se enganado. Se foi capaz de enganar a respeito do lugar onde encontrar os rebeldes, possivelmente se enganara a respeito de outras coisas. Que outras coisas? Ele não sabia. Mas tinha sonhos maus. Aquele bichinho agressivo corria-lhe dentro da cabeça, a atarantá-lo, insistindo em que ele esquecera coisas, que outras coisas estavam se passando sem ele saber. Corria, mordia e estragava-lhe o sono. Flagg tinha poções que o livrariam do resfriado, mas nenhuma que afetasse o animal que lhe corroía o cérebro.
O que será que anda mal?
Incessantemente ele fazia a si mesmo essa pergunta, e na verdade parecia — na superfície, pelo menos — que nada ia mal. Por séculos a fio, o velho caos maligno dentro dele tinha odiado o amor, a luz e a ordem de Delain, e ele trabalhara muito para acabar com tudo aquilo — para finalmente derrubá-lo como aquela última e gélida lufada de tempestade derrubara a igreja dos Grandes Deuses. Sempre surgira algo para atrapalhar-lhe os planos — uma Kyla, a Boa, uma Sacha, alguém, alguma coisa. Mas agora ele não via nada que pudesse atrapalhar, em qualquer lado que olhasse. Tomás era um joguete completo em suas mãos: se Flagg o mandasse saltar do mais alto parapeito do castelo, o imbecil só quereria saber a que horas devia fazê-lo. Os camponeses gemiam sob o peso de impostos exorbitantes que Flagg convencera Tomás a decretar.
Yosef tinha dito a Pedro que, tal como nas cordas e correntes, existe nas pessoas uma tensão de ruptura, e é verdade — os camponeses e os comerciantes de Delain tinham quase chegado à sua. A corda com que os grandes blocos dos impostos são atados a qualquer comunidade é simplesmente a lealdade — lealdade ao rei, ao país, ao governo. Flagg sabia que aumentando os blocos dos impostos além de certo ponto, todas as cordas arrebentariam, e a estúpida boiada — que era na verdade como ele via o povo de Delain — estouraria, derrubando tudo em seu caminho. Os primeiros bois já se tinham livrado do jugo e se reunido no norte. Por enquanto, chamavam a si próprios exilados, mas Flagg sabia que logo passariam a intitular-se rebeldes. Peyna fora expulso e Pedro estava trancado no Obelisco.
O que, então, podia estar andando mal?
Nada! Com os diabos, nada!
Mas o cachorro-do-mato corria, serpeava, mordia e estrebuchava. Muitas vezes, no correr das três ou quatro últimas semanas, ele tinha acordado suando frio, não por causa da febre intermitente, mas porque tivera um sonho horrível. Qual era a substância desse sonho? Ele nunca se lembrava. Só sabia que despertava com a mão esquerda apertando o olho esquerdo, como se tivesse ali um ferimento — e que o olho ardia, embora nada houvesse com ele.
NESSA NOITE, FLAGG acordou com o sonho vivo na cabeça, porque foi despertado antes de ele terminar. Foi a queda da igreja dos Grandes Deuses, é claro, que o despertou.
— Hã! — exclamou Flagg, erguendo-se de súbito na cadeira. Tinha os olhos arregalados e fixos, as faces macilentas úmidas e brilhantes de suor.
— Desgraça! — gritou uma das cabeças do papagaio.
— Fogo, enchente e fuga!— gritou a outra.
Fuga, Flagg pensou. Sim — é isso que tem estado em minha cabeça todo o tempo, é isso que anda me mordendo o cérebro.
Olhou para as mãos e viu que estavam tremendo. Isso o enfureceu, e ele saltou da cadeira.
— Ele pretende fugir — murmurou, passando as mãos pelo cabelo. — Ou pretende tentar, pelo menos. Mas como? Como? Qual é o plano? Quem o ajudou? Eles pagarão com a cabeça, eu prometo... e ela não cairá de um golpe, não! Será um centímetro... meio centímetro... de cada vez. Eles serão levados à loucura muito antes de morrer...
— Loucura! — gritou uma das cabeças do papagaio.
— Morrer! — gritou a outra.
— Querem calar a boca e me deixar pensar! — berrou Flagg.
Pegou um jarro cheio de um líquido pardo e pastoso de uma mesa próxima e atirou-o contra a gaiola do papagaio. Ele acertou e o jarro se espatifou; houve um clarão de luz fria fulgurante. As duas cabeças do papagaio grasnaram de terror; ele caiu do poleiro e ficou prostrado no fundo da gaiola, atordoado, até de manhã.
Flagg pôs-se a caminhar rapidamente de um lado para outro. Tinha os dentes à mostra. As mãos entrelaçadas se agitavam, os dedos guerreavam entre si. Os sapatos tiravam faíscas das pedras forradas de salitre do piso do laboratório; as faíscas deixavam um cheiro como de raios de verão.
Como? Quando? Quem ajudou?
Não conseguia se lembrar. O sonho já estava se desvanecendo. Mas...
— Eu tenho de saber! — sibilou. — Eu tenho de saber! Porque seria logo; isso ele pressentia. Seria logo, logo.
Pegou um molho de chaves e abriu a gaveta inferior da mesa. Apanhou uma caixa de pau-ferro lindamente entalhada e dela retirou uma sacola de couro. Desfez o nó que fechava a boca da sacola e retirou com cuidado um fragmento de rocha que parecia fulgir com uma luz interior própria. A rocha era leitosa como o olho de um velho cego. Parecia um pedaço de esteatita, mas na verdade era um cristal — o cristal mágico de Flagg.
Contornou a sala, apagou os candeeiros e abafou as velas. O aposento ficou em completa escuridão. Mesmo no escuro, Flagg voltou à mesa rápido e a passos firmes, desviando-se com agilidade de objetos em que vocês ou eu teríamos tropeçado ou esfolado as canelas. O escuro não era nada para o mago do rei; ele gostava do escuro e enxergava nele como um gato.
Sentou-se e tocou na pedra. Deslizou as palmas pela superfície, apalpou-lhe os cantos e as arestas irregulares.
— Mostre-me — murmurou. — Mostre-me o que eu preciso saber. Eu ordeno.
A princípio, nada. Depois, pouco a pouco, o cristal começou a fulgurar de dentro para fora. No começo, era apenas um ponto de luz, pálida e difusa. Flagg tocou novamente o cristal, desta vez com as pontas dos dedos. Ele se aquecera um pouco.
— Mostre-me Pedro. Eu ordeno. Mostre-me o frangote que se atreve a pôr-se em meu caminho, e mostre-me o que ele planeja fazer.
A luz foi se tornando mais brilhante... mais... mais. Com os olhos faiscando, os lábios finos e cruéis entreabertos, deixando à mostra os dentes, Flagg debruçou-se sobre o cristal. Agora Pedro, Ben, Denis e Naomi teriam reconhecido os sonhos — e reconhecido a luz que iluminava o rosto do bruxo, a luz que não era de uma vela.
O matiz leitoso do cristal de repente desapareceu, fundindo-se no brilho progressivamente mais intenso. Agora Flagg podia ver o interior da pedra. Seus olhos se arregalaram... depois se estreitaram de perplexidade.
Era Sacha, em gravidez adiantada, sentada à cadeira de um menino. 0 menino segurava uma lousa. Nesta, havia duas palavras escritas: deus e cão.
Impaciente, Flagg passou as mãos pelo cristal, que agora irradiava ondas de calor.
— Mostre-me o que eu preciso saber! Eu ordeno!
O cristal clareou novamente.
Era Pedro, brincando com a casa de boneca da mãe morta, fingindo que a casa com a família dentro dela estava sendo atacada pelos índios... ou dragões... ou uma bobagem qualquer. O velho rei, parado a um canto, observava o filho, com vontade de brincar também...
— Não! — vociferou Flagg, agitando outra vez as mãos sobre o cristal. — Por que me mostra essas velhas histórias sem sentido? Quero saber como ele planeja escapar... e quando! Agora mostre! Eu ordeno!
O cristal ia ficando cada vez mais quente. Se ele não o deixasse escurecer, mais um pouco se partiria e ficaria inutilizado para sempre, Flagg sabia, e cristais mágicos não eram fáceis de encontrar — este lhe custara 30 anos de procura. Mas ele o veria em um bilhão de pedaços antes de desistir.
— Eu ordeno! — repetiu, e pela terceira vez o matiz leitoso do cristal se recolheu. Flagg curvou-se sobre ele até que o calor lhe fez brotarem lágrimas dos olhos.
Apertou os olhos... depois, apesar do calor, abriu-os estupefato e furioso. Era Pedro. Pedro descia lentamente pelo lado de fora do Obelisco. Só podia ser uma maldita bruxaria, uma vez que, embora ele trocasse as mãos em sucessão, não havia nenhuma corda visível...
Ou... havia?
Flagg abanou-se com a mão, dissipando o calor por um momento. Uma corda? Não exatamente, mas havia alguma coisa... algo quase imperceptível, como um fio de teia de aranha... mas suportava o peso.
— Pedro! — Flagg arfou, e ao som de sua voz a figurinha olhou em volta. Flagg soprou o cristal e a luz brilhante tremulou e se apagou. Sentado no escuro, ele continuou a ver aquela imagem impressa nas retinas.
Pedro. Fugindo. Quando? Era noite no cristal, e Flagg tinha observado farfalhas errantes de neve flutuando em torno do pequeno vulto que descia ao longo da parede circular. Seria mais tarde, nessa noite? Amanhã à noite? Numa noite da próxima semana? Ou...
Flagg afastou-se da mesa e levantou-se de supetão. Seus olhos encheram-se de fogo, enquanto ele olhava em volta dos seus malcheirosos e escuros aposentos do porão.
...ou já tinha acontecido?
— Basta — arquejou. — Por todos os deuses passados e futuros, basta.
Atravessou a passos largos a peça escurecida e pegou uma enorme arma pendurada na parede. Era pouco manejável, mas ele a segurou com desenvoltura e familiaridade. Acostumado com ela? Claro que estava! Ele a brandira muitas vezes quando aqui vivera e exercera ofício com o nome de Bill Hinch, o mais temido verdugo que Delain já conhecera. Aquela lâmina terrível já cortara centenas de pescoços. Além das lâminas que eram de aço anduano duas vezes forjado, havia um aperfeiçoamento introduzido pelo próprio Flagg: uma bola de ferro com pontas. Todas as pontas eram envenenadas.
— Basta! — gritou Flagg novamente, num ímpeto de raiva, frustração e medo. O papagaio bicéfalo, mesmo em profunda inconsciência, gemeu àquele som.
Flagg apanhou a capa pendurada a um gancho junto à porta, atirou-a sobre os ombros e prendeu na garganta o fecho — um escaravelho de prata batida.
Basta! Desta vez seus planos não seriam frustrados — certamente não por um detestável rapazola. Rolando estava morto, Peyna destituído, os nobres forçados ao exílio. Não havia ninguém para incitar um clamor por um príncipe morto... muito menos por quem matara o próprio pai.
Se ainda não fugiu, meu belo príncipe, não fugirá jamais — e algo me diz que você ainda está no xadrez. Mas uma parte sua vai sair esta noite, eu prometo — e essa parte eu pretendo levar pelos cabelos.
Caminhando a grandes passadas pelo corredor em direção à Porta das Masmorras, Flagg desatou a rir... um som de causar pesadelos a estátuas de pedra.
A INTUIÇÃO DE FLAGG fora correta. Pedro acabara de verificar a sua corda de fibras de linho entrançadas, mas ainda estava na cela da torre, à espera de que o pregoeiro anunciasse a meia-noite, quando Flagg irrompeu da Porta das Masmorras e se pôs a cruzar a Praça do Obelisco. A igreja dos Grandes Deuses caíra às 11 horas e 15 minutos; faltavam 15 minutos para a meia-noite, quando o cristal mostrou a Flagg o que ele queria saber (acho que vocês concordarão com a minha idéia de que no começo ele tentou mostrar-lhe a verdade de dois outros modos), e quando Flagg começou a atravessar a Praça, ainda faltavam dez minutos para a meia-noite.
A Porta das Masmorras ficava do lado nordeste do Obelisco. Do lado sudoeste, havia uma pequena entrada do castelo conhecida como a Porta dos Mascates. Podia-se traçar uma reta diagonal entre a Porta das Masmorras e a Porta dos Mascates; exatamente no meio dessa reta ficava o Obelisco, é claro.
Quase ao mesmo tempo em que Flagg saía pela Porta das Masmorras, Ben, Naomi, Denis e Frisky saíam pela Porta dos Mascates. Sem saber, seguiam rotas convergentes. O Obelisco estava entre eles, mas o vento tinha amainado, e o grupo de Ben deveria ter ouvido o martelar e arrastar dos saltos de Flagg nas pedras do calçamento; e Flagg deveria ter ouvido o leve ranger de uma roda não lubrificada. Mas todos, inclusive Frisky (que voltara ao seu antigo ofício de puxar), estavam absortos em seus próprios pensamentos.
Ben e seu grupo chegaram primeiro ao Obelisco.
— Agora... — começou Ben, e nesse instante, do outro lado, a menos de 40 passos, pelo perímetro da torre, do ponto onde se encontravam, Flagg começou a esmurrar a Porta do Carcereiro, triplamente aferrolhada.
— Abram! — berrava Flagg. — Abram em nome do rei!
— O que... — começou Denis, mas Naomi tapou-lhe a boca com uma mão que parecia de aço e olhou para Ben com olhos apavorados.
A VOZ SUBIU ESPIRALANDO até Pedro no ar gelado de depois da tempestade. Chegou fraca, mas perfeitamente clara.
— Abram em nome do rei!
Abram em nome do inferno, é o que quer dizer — pensou Pedro.
Pedro fora um menino valente. Agora era um homem valente, mas ao ouvir aquela voz rouca, e recordar aquela cara magra e macilenta e aqueles olhos vermelhos, sempre afundados na sombra do capuz, sentiu todos os ossos gelados e o estômago em fogo. Sua boca ficou seca como um graveto. Sua língua colou-se no céu da boca. Seus cabelos se eriçaram. Se alguém já lhes disse que ser valente significa nunca sentir medo, o que esse alguém lhes disse não procede. Naquele instante, Pedro sentiu um pavor como nunca sentira na vida.
É Flagg, e ele vem atrás de mim.
Pedro se pôs de pé e, por um momento, sentiu as pernas bambas e pensou que simplesmente ia desabar. Era a morte que estava lá embaixo, martelando a porta para entrar.
— Abram! De pé, patifes, piolhentos, beberrões! Beson, seu filho de um gambá! Não se apresse, disse Pedro a si mesmo. Se você se apressar cometerá um erro e fará o serviço por ele. Até agora ninguém foi abrir. Beson está bêbado — já estava chumbado à hora do jantar e devia estar paralisado quando foi dormir. Flagg não tem a chave, ou não iria perder tempo batendo. Portanto... um passo de cada vez. Exatamente como você planejou. Ele terá de entrar, depois subir as escadas — 300 degraus... você ainda pode vencê-lo.
Pedro encaminhou-se à sua alcova e puxou os pinos de ferro bruto que uniam as peças da estrutura tosca da cama. A cama arriou. Ele pegou uma das laterais de ferro e levou-a para a sala. Tinha medido cuidadosamente a barra e sabia que ela era maior que a largura da janela, e embora a superfície estivesse enferrujada, imaginou que por dentro ainda era resistente. Tomara, pensou. Seria uma piada de mau gosto, se a minha corda agüentasse e a minha âncora quebrasse.
Deu uma olhada para fora. Agora não via ninguém, mas tinha avistado três vultos atravessando a Praça em direção ao Obelisco pouco antes de Flagg começar a esmurrar a porta. Denis tinha recrutado amigos. Ben seria um deles? Pedro esperava que sim, mas não se atrevia a realmente acreditar. Quem seria o terceiro? E por que a carroça? Eram perguntas para as quais não tinha tempo agora.
— Olá, cães! Abram esta porta! Abram em nome do rei! Abram em nome de Flagg! Abram a porta! Abram...
No silêncio da quase meia-noite, Pedro ouviu o som dos ferrolhos, da grossura de pulsos, se abrindo, lá embaixo. Imaginou que a porta tinha sido aberta, mas isso não ouviu. Silêncio...
...depois um grito estrangulado e gorgolejante.
O INFELIZ AUXILIAR DO carcereiro que finalmente atendera aos chamados de Flagg viveu menos de quatro segundos, depois de puxar o terceiro ferrolho da porta. Teve um medonho vislumbre de uma cara branca, olhos vermelhos chamejantes e um manto negro que flutuava para trás ao vento como as asas de um corvo. Soltou um grito e o ar se encheu de um som seco no momento em que o machado de batalha de Flagg lhe partia a cabeça ao meio.
— Da próxima vez que alguém bater em nome do rei, tratem de mexer-se e não terão um monte de sujeira para limpar de manhã — berrou Flagg.
Depois, rindo com selvageria, empurrou o corpo com o pé para um lado e precipitou-se pelo corredor em direção à escada. As coisas ainda corriam bem. Ele acordara para o perigo em tempo. Sabia disso.
Sentia isso.
Abriu uma porta à direita e entrou na passagem principal que saía do salão do tribunal onde Anders Peyna em outros tempos distribuíra justiça. No fim dessa passagem começava a escada. Ele olhou para cima, arreganhando o seu medonho sorriso de tubarão.
— Lá vou eu, Pedro! — gritou alegremente, a voz ecoando e retumbando, espiralando para o alto até onde Pedro se ocupava em amarrar a corda à barra que removera da cama. — Lá vou eu, meu caro Pedro, fazer o que devia ter feito há muito tempo!
O sorriso de Flagg alargou-se, e agora o seu espectro era terrível como nunca — parecia um demônio saído de uma cova mefítica que se tivesse aberto na terra. Levantou o machado de carrasco, e gotas de sangue do guarda massacrado caíram-lhe no rosto e lhe escorreram pelas faces como lágrimas.
— Lá vou eu, meu caro Pedro, cortar-lhe a cabeça! — gritou Flagg, começando a escalar os degraus.
Um. Três. Seis. Dez.
AS MÃOS TRÊMULAS DE Pedro se atrapalhavam. Um nó que ele fizera facilmente mil vezes, agora se desmanchava e ele tinha de recomeçar.
Não deixe que ele o assuste.
Isso era bobagem. Ele estava assustado, sim: apavorado. Tomás teria se espantado se soubesse que Pedro sempre tivera medo de Flagg; Pedro só tinha sabido disfarçar melhor.
Se ele vai matar você, deixe que ELE o mate! Não se mate para ele!
O pensamento lhe vinha de dentro da cabeça... mas soava como a voz da mãe. As mãos de Pedro firmaram-se um pouco, e ele se pôs a refazer o nó.
— EU LEVAREI A SUA cabeça pendurada a minha sela por mil anos! — gritou Flagg. Subindo e subindo, volta após volta. — Ah, que belo troféu você dará! Vinte. Trinta. Quarenta.
Seus saltos tiravam centelhas verdes das pedras. Seus olhos faiscavam. Seu sorriso era como veneno.
— LÁ VOU EU, PEDRO!
Setenta. Faltavam 230 degraus.
SE ALGUM DE VOCÊS já acordou com um ofegar estranho no meio da noite, deve saber que só o fato de achar-se sozinho no escuro pode causar muito pavor; tentem agora imaginar o que seja alguém acordar numa passagem secreta, espiando por buracos escondidos para a sala onde assistiu ao assassinato do seu próprio pai!
Tomás gritou. Ninguém ouviu (exceto, talvez, os cachorros embaixo, mas duvido — eram velhos, surdos, e eles próprios faziam muito barulho).
Havia em Delain uma crença a respeito de sonambulismo — uma crença que também se tem divulgado comumente em nosso mundo: a crença de que se um sonâmbulo acorda antes de voltar para a cama, enlouquece.
Talvez Tomás tivesse ouvido essa lenda. Nesse caso, poderia atestar que não havia nada de verdade. Ele levou um tremendo susto, e gritou, mas não enlouqueceu em absoluto.
Por sinal, seu primeiro susto passou bastante depressa — mais depressa do que alguns de vocês terão imaginado — e ele voltou a espiar pelos buracos. A alguns de vocês isso pode parecer estranho, mas vocês devem se lembrar de que, antes da noite terrível em que Flagg viera com seu copo de vinho depois que Pedro saíra, Tomás passara algumas horas agradáveis naquela passagem escura. O prazer era acompanhado de uma vaga sensação de culpa, mas ao mesmo tempo ele se sentia próximo do pai. Agora, voltando ali, experimentava uma curiosa espécie de saudade.
Ele viu que a sala quase não tinha mudado. As cabeças empalhadas continuavam ali — Bonsey, o alce; Craker, o lince; Snapper o grande urso branco do norte. E, naturalmente, Niner, o dragão, através do qual agora ele olhava, com o arco de Rolando e a flecha do Martelo do Inimigo suspensos na parede acima dele.
Bonsey... Craker... Snapper... Niner.
Eu me lembro de todos esses nomes, pensou Tomás, um tanto admirado. E me lembro de você, meu pai. Queria que estivesse vivo, e Pedro livre, mesmo que isso resultasse em que ninguém sequer soubesse que eu estava vivo. Pelo menos, à noite eu poderia dormir.
Alguns dos móveis estavam cobertos com panos brancos, mas a maioria não. A lareira estava escura e fria, mas um fogo fora preparado. Tomás viu com crescente espanto que até mesmo a velha manta do pai estava pendurada em seu lugar de costume, junto à porta do banheiro. A lareira estava fria, mas bastaria riscar um fósforo e encostá-lo num graveto para revivê-la, chamejante e acolhedora; na sala só faltava o pai para fazer o mesmo com ela.
De repente, Tomás se deu conta de um desejo estranho, quase sobrenatural, dentro de si: teve vontade de entrar naquela sala. Queria acender o fogo. Queria vestir a manta do pai. Queria beber um copo do hidromel do pai. Queria bebê-lo, mesmo que estivesse amargo e choco. Imaginou... imaginou que ali conseguiria dormir.
Um sorriso lânguido, cansado, despontou no rosto do menino, e ele decidiu-se. Nem mesmo temia o fantasma do pai. Quase queria que ele aparecesse. Nesse caso, poderia dizer-lhe algo.
Poderia dizer-lhe que estava arrependido.
— ESTOU CHEGANDO, PEDRO! — gritou Flagg, rindo. Recendia a sangue e morte. Os olhos eram de fogo letal. O machado de carrasco silvava e rangia, e algumas últimas gotas de sangue voavam da lâmina e respingavam as paredes. — ESTOU CHEGANDO! VIM BUSCAR A SUA CABEÇA!
Subindo, subindo, volta após volta, cada vez mais alto. Era um demônio com a morte na cabeça.
Cem. Cento e vinte e cinco.
— MAIS DEPRESSA — arquejou Ben para Denis e Naomi.
A temperatura estava caindo outra vez, mas os três estavam suando. Parte do suor vinha do exercício — faziam muito esforço. Mas em grande parte era causado pelo medo. Podiam ouvir os gritos de Flagg. Até Frisky, com seu ânimo valente, estava amedrontada. Tinha recuado um pouco e se encolhido sobre as patas, ganindo baixinho.
— ESTOU CHEGANDO, FRANGOTE! — Mais perto agora... a voz era mais clara, com menos eco.
— Chegando para fazer o que devia ter feito há muito tempo!
As lâminas gêmeas silvavam e rangiam.
DESTA VEZ O NÓ não correu.
Que os deuses me ajudem, pensou Pedro, e mais uma vez olhou para trás, na direção da voz crescente e esganiçada de Flagg. Agora, que os deuses me ajudem.
Pedro passou uma perna para fora da janela. Logo cavalgava o peitoril como se fosse a sela de Peônia, um pé no piso de pedra da cela, o outro balançando no vazio.
Segurava no colo o rolo de corda e a barra de ferro da cama. Atirou a corda para fora da janela e ficou a olhá-la cair. Ela se enovelou e embaraçou à meia altura, e ele teve de perder mais tempo a sacudi-la como a uma linha de pescar para que voltasse a cair livremente.
Então, com uma prece final, pegou a barra de ferro e puxou-a contra a janela. A corda estava atada ao meio. Pedro passou a perna de dentro por cima do peitoril e torceu o corpo na cintura, agarrado à barra de que dependia a sua vida. Agora só as nádegas estavam sobre o peitoril. Girou meia-volta, de modo que a borda externa do peitoril da janela ficasse comprimindo a barriga em vez de os quadris. As pernas ficaram penduradas. A barra de ferro assentava firmemente atravessada na janela.
Pedro largou dela a mão esquerda e agarrou a sua fina corda de guardanapos. Por um momento se deteve, lutando contra o medo.
A seguir, fechou os olhos e largou da barra a mão direita. Agora todo o seu peso estava na corda. Ele estava entregue. Bem ou mal, sua vida agora dependia só dos guardanapos. Pedro começou a descer.
— Chegando...
Duzentos.
— Para buscar sua cabeça... Duzentos e cinqüenta.
— Meu caro príncipe! Duzentos e setenta e cinco.
BEN, DENIS E NAOMI avistaram Pedro, uma silhueta humana escura contra a parede curva do Obelisco, muito acima deles — mais alto do que o mais bravo acrobata se atreveria a ir.
— Mais depressa — ofegou Ben, quase soluçando. — Pelos deuses... Por ele! Eles continuaram a descarregar a carroça ainda mais depressa... mas na verdade, o que podiam fazer estava quase feito.
FLAGG SUBIA A ESCADA correndo, o capuz caído para trás, o cabelo escuro e escorrido voando da testa branca feito cera. Quase chegando agora — quase lá.
O VENTO AGORA ERA fraco, mas muito frio. Soprava contra as faces e as mãos nuas de Pedro, e as entorpecia. Muito devagar ele descia, movendo-se com cuidadosa determinação. Sabia que se houvesse qualquer descontrole, ele cairia. Em frente, os grandes blocos de pedra de argamassa deslizavam uniformemente para cima — depois de algum tempo ele passou a sentir como se estivesse parado e a torre estivesse subindo. Respirava em arquejos medidos. Neve fria e seca tamborilava-lhe no rosto. A corda era fina — e se suas mãos se entorpecessem muito mais, ele não conseguiria mais senti-la.
Quanto tinha descido?
Acima dele, alguns fios da corda, habilidosamente tecidos como uma mulher teceria um tapete, tinham começado a esgarçar. Pedro não sabia disso, provavelmente para sorte dele. A tensão de ruptura quase já fora atingida.
— MAIS DEPRESSA, rei Pedro! — sussurrou Denis.
Os três tinham acabado de esvaziar a carroça; agora só lhes restava observar. Pedro descera talvez a metade da distância.
— Ele está tão alto — gemeu Naomi. — Se cair...
— Se cair, ele morre — disse Ben, numa voz clara e taxativa que fez calar a todos.
FLAGG CHEGOU AO TOPO da escada e lançou-se pelo corredor, o peito arfando convulsivamente. Tinha o rosto inundado de suor. Seu sorriso era um horrível esgar.
Depôs o grande machado e puxou o primeiro dos três ferrolhos da porta do alojamento de Pedro. Puxou o segundo... e parou. Não seria inteligente apenas irromper porta adentro, não senhor, não seria nada inteligente. O pássaro engaiolado podia estar tentando escapar naquele exato momento, mas também podia estar atrás da porta, pronto para quebrar-lhe a cabeça com alguma coisa tão logo ele entrasse.
Abrindo o postigo no meio da porta e vendo a barra da cama de Pedro atravessada na janela, Flagg compreendeu tudo e rugiu de raiva.
— Não tão fácil assim, meu jovem passarinho!— uivou Flagg. — Vamos ver como você voa com sua corda cortada, vamos?
Com um golpe, Flagg abriu o terceiro ferrolho e arremeteu para dentro da cela com o machado levantado acima da cabeça. Depois de uma rápida olhada pela janela, sorriu outra vez. Resolveu não cortar a corda.
PEDRO CONTINUAVA A descida. Os músculos dos braços tremiam de exaustão. Tinha a boca seca; parecia-lhe ter estado pendurado àquela corda um tempo enorme, e uma certeza curiosa invadiu-lhe o coração: ele jamais teria aquele gole de água que queria. Ia morrer, e isso não era o pior. Ia morrer com sede. Naquele instante era isso que achava o pior.
Continuava sem coragem de olhar para baixo, mas sentiu uma estranha compulsão — tão forte quanto a do irmão de entrar na sala do pai — de olhar para cima. Obedeceu-lhe — e uns 75 metros acima viu a cara branca e facinorosa de Flagg sorrindo para ele.
— Olá, meu passarinho — gritou Flagg para baixo, alegremente. — Eu tenho um machado, mas acho que afinal de contas não vou precisar usá-lo. Eu o pus de lado, está vendo? — E o bruxo estendeu as mãos vazias.
Toda a força ameaçava esvair-se dos braços e mãos de Pedro — a simples visão da cara odiosa de Flagg causara isso. Ele concentrou-se em se agüentar. Já não sentia a corda — sabia que ainda a segurava porque a via saindo dos seus punhos, mas isso era tudo. A respiração lhe rasgava a garganta em arquejos escaldantes.
Agora olhou para baixo, e viu os círculos brancos de três rostos voltados para cima. Eram círculos minúsculos — ele não estava a sete metros do calçamento gelado, nem mesmo a 14 metros; estava ainda a mais de 30 metros de altura, a altura do quarto andar de um dos nossos prédios.
Tentou mover-se e viu que não podia — se o fizesse, cairia. Ficou ali pendurado contra o flanco do edifício. Uma neve gelada e arenosa batia-lhe no rosto, e na prisão lá em cima Flagg desatou a rir.
— POR QUE ELE não se mexe? — exclamou Naomi, apertando o ombro de Ben com a mão enluvada. Tinha os olhos fixos no vulto torcido de Pedro. Pendurado ali, girando lentamente, ele dava a horrível impressão de um enforcado. — O que é que há com ele?
— Não...
No alto, o riso sinistro de Flagg parou abruptamente.
— Quem vem lá? — bradou ele. A voz soou como um trovão, como a voz do Juízo. — Respondam, se não querem perder as cabeças! Quem vem lá?
Frisky ganiu e encolheu-se contra as pernas de Naomi.
— Pelos deuses, estamos bem arranjados — disse Denis. — O que vamos fazer, Ben?
— Esperar — disse Ben com firmeza. — E se o bruxo descer, lutaremos. Vamos esperar para ver o que acontece. Vamos...
Mas não houve o que esperar, pois, nos segundos seguintes, muita coisa — não tudo, mas muita coisa — se resolveu.
FLAGG TINHA VISTO a finura da corda de Pedro e a sua brancura — e num relance compreendera tudo, do princípio ao fim — inclusive os guardanapos e a casa de boneca. Os meios de fuga de Pedro tinham estado todo o tempo debaixo do seu nariz, e por pouco lhe teriam escapado. Mas... percebeu algo mais. Pequenas crepitações de fibras onde os fios estavam cedendo na corda esticada, uns cinco metros abaixo dele.
Flagg poderia ter virado a barra de ferro em que apoiava as mãos e desse modo feito Pedro despencar-se, com a âncora seguindo atrás para talvez esmagar-lhe a cabeça, quando ele chegasse ao chão. Poderia ter cortado a frágil corda com uma machadada.
Mas preferiu deixar que as coisas seguissem seu curso, e um momento depois que interpelara as vozes, as coisas seguiram seu curso.
A tensão de ruptura da corda foi atingida. Ela partiu-se com um estalo vibrante como uma corda de alaúde retesada por um aperto excessivo da cravelha.
— Adeus, passarinho — gritou Flagg alegremente, debruçando-se para fora da janela para acompanhar a queda de Pedro. — Ad...
Em seguida, o grito cessou e ele arregalou os olhos como quando olhara no cristal e vira um pequeno vulto descendo pelo lado do Obelisco. Abriu a boca e soltou um grito de fúria — um grito terrível que acordou mais gente em Delain do que a queda da torre.
PEDRO OUVIU O ESTALO vibrante e sentiu a corda partir-se. O sopro gelado de um vento ascendente atingiu-lhe o rosto. Tentou preparar-se para o impacto, sabendo que ele aconteceria em menos de um segundo. O pior seria a dor, se a morte não fosse instantânea.
E, então, Pedro chocou-se contra o alto e fofo monte de guardanapos reais que Frisky tinha transportado para fora do castelo e através da Praça numa carroça roubada — os guardanapos reais que Ben, Denis e Naomi tinham tão febrilmente empilhado. O tamanho dessa pilha — que parecia um monte de feno caiado — nunca foi exatamente conhecido, já que Ben, Denis e Naomi tinham feito estimativas diferentes. Talvez a idéia de Pedro fosse a mais aceitável, pois foi ele quem caiu de pé do meio dela — para ele, aquela confusa, linda e providencial pilha de guardanapos tinha pelo menos seis metros de altura, e, pela parte que me toca, acho que ele estava certo.
ELE CAIU DE PÉ no meio da pilha, como eu disse, fazendo uma cratera. Depois tombou de costas e ficou imóvel. Ben ouviu Flagg urrando de raiva lá em cima e pensou: Não tem motivo para isso, bruxo, você levou a melhor. Ele morreu, apesar de nós termos feito tudo o que era possível.
Depois, Pedro sentou-se. Parecia atordoado, mas perfeitamente vivo. Apesar de Flagg, apesar do fato de que talvez fossem os soldados da ronda que naquele momento estavam correndo em direção a eles, Ben Staad soltou um viva, um brado de puro triunfo. Agarrou Naomi e deu-lhe um beijo.
— Urra! — gritou Denis, sorrindo estonteado. — Urra para o rei!
Então, Flagg gritou de novo muito acima deles — o grito de uma ave diabólica defraudada de sua presa. Os vivas, os beijos e os urras cessaram de imediato.
— Vocês pagarão com suas cabeças! — gritou Flagg. Estava fora de si de ódio. — Pagarão com suas cabeças, todos vocês! Guardas da ronda, ao Obelisco! Ao Obelisco! 0 regicida escapou! Ao Obelisco! Matem o príncipe assassino! Matem a sua quadrilha! Matem todos!
No castelo, que cercava a Praça do Obelisco pelos quatro lados, janelas começaram a se iluminar... e de dois lados veio o som de pés correndo e o tinir metálico de espadas desembainhadas.
— Matem o príncipe!— gritava Flagg, possesso, do topo do Obelisco. — Matem a quadrilha! Matem todos!
Pedro tentou levantar-se, tropeçou e caiu de novo. Parte de sua mente clamava com urgência que era preciso levantar-se, que eles tinham de fugir para não morrer... mas outra parte insistia em que ele já estava morto, ou gravemente ferido, e que tudo aquilo era um delírio da imaginação agonizante. Tinha a impressão de ter pousado num colchão dos mesmos guardanapos que durante cinco anos lhe tinham ocupado tanto o pensamento... e o que podia ser isso senão um delírio?
A mão forte de Ben agarrou-lhe o braço, e ele soube que tudo era real, que tudo estava acontecendo.
— Pedro, você está bem? Está bem mesmo?
— Sem um arranhão — disse Pedro. — Temos que fugir daqui.
— Meu rei!— exclamou Denis, caindo de joelhos diante do aturdido Pedro e com o mesmo sorriso aparvalhado. — Meu voto de fidelidade para sempre! Eu juro que...
— Deixe a jura para mais tarde! — exclamou Pedro, sem poder deixar de rir. Fez Denis pôr-se de pé, como Ben fizera com ele. — Vamos sair daqui!
— Por qual porta? — perguntou Ben. Sabia, como Pedro, que Flagg já estaria descendo de volta. — Pelo barulho, eles vêm de todos os lados.
Na verdade, Ben achava indiferente a direção para o combate que seguramente ocorreria, e no qual acabariam sendo massacrados. Mas, mesmo aturdido, Pedro sabia muito bem aonde queria ir.
— Pela Porta Oeste — disse ele —, e depressa! Corram!
Os quatro saíram correndo, com Frisky nos seus calcanhares.
AlNDA A 50 METROS da Porta Oeste, Pedro e seus amigos se defrontaram com um grupo de sete guardas sonolentos e confusos. A maioria deles tinha-se abrigado da tormenta em uma das bem aquecidas cozinhas dos criados do castelo, bebendo hidromel e exclamando uns para os outros que teriam uma boa história para contar aos netos. Na verdade, não sabiam nem metade do que teriam para contar. Seu “chefe” era um rapazola de apenas 20 anos, e um simples gavião... mais ou menos o que chamamos de cabo, eu acho. Mas não havia consumido nenhuma bebida e estava razoavelmente alerta. E resolvido a cumprir seu dever.
— Alto, em nome do rei! — bradou quando o grupo de Pedro topou com o dele, um pouco mais numeroso. Ele se esforçou por trovejar a ordem, mas um contador de história tem de ser tanto quanto possível fiel à verdade, e eu tenho de dizer-lhes que a voz do gavião era mais um guincho que um trovão.
Pedro, é claro, estava desarmado, mas Ben e Naomi portavam espadas curtas e Denis tinha o seu punhal enferrujado. Os três imediatamente puseram-se à frente de Pedro. Ben e Naomi levaram as mãos ao punho das espadas. Denis já tinha sacado o seu punhal.
— Parem! — gritou Pedro; a voz dele era um trovão. — Não saquem as armas! Surpreso — aturdido mesmo —, Ben relanceou um olhar a Pedro.
Pedro passou à frente. Parou, com os olhos refletindo a lua e a barba encrespada pela brisa fria. Vestia a sua roupa rústica de prisioneiro, mas o rosto era imponente e régio.
— Alto em nome do rei, diz você — disse Pedro. Avançou calmamente em direção ao estupefato gavião, até que os dois ficaram quase cara a cara, menos de 15 centímetros os separavam. O guarda recuou um passo, apesar da sua espada desembainhada e do fato de Pedro ter as mãos vazias. — Mas eu lhe digo, gavião: Sou eu o rei.
O guarda passou a língua nos lábios e lançou um olhar aos seus comandados.
— Mas... — gaguejou. — Quem...
— Como se chama? — Pedro perguntou tranqüilamente.
O gavião abriu a boca. Poderia ter traspassado Pedro em um segundo, mas ficou boquiaberto e atarantado, como um peixe fora d'água.
— Seu nome, gavião.
— Majestade... isto é... prisioneiro... você... eu... — O jovem soldado remexeu-se outra vez, depois, desamparado, respondeu: — Meu nome é Galen.
— E sabe quem sou eu?
— Sim — rosnou um dos outros. — Nós o conhecemos, assassino.
— Eu não matei meu pai — disse Pedro calmamente. — Foi o mago do rei. Ele está atrás de nós agora, e eu lhes recomendo... veementemente, eu lhes recomendo... tomem cuidado com ele. Em breve, ele deixará de fazer mal a Delain; eu lhes prometo em nome do meu pai. Mas, por ora, devem deixar-me passar.
Houve um longo intervalo de silêncio. Galen levantou a espada como se fosse varar Pedro com ela. Pedro não se moveu. Ele devia aos deuses uma morte; era um débito que assumira desde que saíra, nu e gritando, do ventre da mãe. Era um débito de todo homem e mulher da criação. Se tinha de pagá-lo agora, que assim fosse... mas era o rei por direito, não um usurpador, e não fugiria, nem se afastaria, nem deixaria que os seus companheiros ferissem o rapaz.
A espada vacilou. Depois Galen deixou-a baixar até que a ponta tocasse o calçamento gelado.
— Deixem-no passar — resmungou. — Pode ser que ele seja um assassino, pode ser que não... o que eu sei é que toda essa sujeira é um assunto real e eu não me meto nela ou acabo me atolando em príncipes e reis.
— Sua mãe ensinou-lhe bem, gavião — disse Ben Staad gravemente.
— É, deixem-no passar — disse uma segunda voz inesperadamente. — Pelos deuses, eu é que não meto a minha espada nele... pelo aspecto dele, ela queimaria a minha mão quando entrasse.
— Vocês serão lembrados — disse Pedro. Olhou para os amigos. — Agora, Sigam-me — disse — e depressa. Eu sei do que preciso e onde encontrar.
Naquele momento Flagg irrompeu da base do Obelisco, fazendo ecoar na noite tal uivo de raiva e fúria que os jovens sentinelas fraquejaram. Recuaram, viraram as costas e fugiram, espalhando-se aos quatro ventos.
— Vamos — disse Pedro. — Sigam-me. À Porta Oeste.
FLAGG CORREU COMO nunca correra na vida. Agora pressentia a ruína iminente de todos os seus planos, no que era praticamente o último momento. Não podia acontecer! E sabia tão bem quanto Pedro aonde tudo ia terminar.
Passou pelos guardas encolhidos sem olhar para os lados. Eles suspiraram com alívio, julgando que ele não os tinha visto... mas Flagg os vira. Vira todos eles, e marcara cada um; depois de Pedro liquidado, suas cabeças iriam decorar os muros do castelo por um ano e um dia, pensou ele. Quanto ao jovem em comando da patrulha — esse antes morreria mil mortes na masmorra.
Atravessou o arco da Porta Oeste, seguiu pela Galeria Principal Oeste e entrou no castelo propriamente dito. Pessoas sonolentas, que tinham saído em suas roupas de dormir para saber que confusão era aquela, encolheram-se ao ver a cara branca transtornada de Flagg e se desviaram, estendendo na direção dele o dedo mínimo e o polegar para esconjurar o mal... porque agora Flagg mostrava o que realmente era: um demônio. Ele saltou sobre o corrimão da primeira escada a que chegou, caiu de pé (o metal dos saltos dos seus sapatos soltou centelhas verdes como os olhos dos linces) e continuou a correr.
Em direção aos aposentos de Rolando.
— O MEDALHÃO — PEDRO arquejou para Denis enquanto corriam. — Ainda tem o medalhão que eu joguei pela janela?
Denis levou a mão ao pescoço, encontrou o coração dourado — com o sangue de Pedro seco na ponta — e fez que sim.
— Dê-me.
Denis passou-o para ele enquanto corriam. Pedro não enfiou a corrente no pescoço, mas enrolou-a no pulso, de modo que o coração girava e balançava à medida que ele corria, soltando reflexos de ouro avermelhado à luz dos candelabros da parede.
— Falta pouco, meus amigos — ofegou Pedro.
Dobraram uma curva. Adiante Pedro avistou a porta dos aposentos do pai. Fora ali que ele vira Rolando pela última vez. Ele fora um rei responsável pela vida e pelo bem-estar de milhares; fora também um velho agradecido por um copo de vinho reconfortante e um dedo de prosa com o filho. Era ali que tudo acabaria.
Uma vez o pai matara um dragão com uma flecha chamada Martelo do Inimigo.
Agora, pensou Pedro, com o sangue a pulsar-lhe nas têmporas e o coração disparado no peito, eu tenho de tentar abater outro dragão— um dragão muito maior — com aquela mesma flecha.
TOMÁS ACENDEU O FOGO, vestiu a manta do pai morto e puxou a cadeira de Rolando para perto da lareira. Sentia que logo ia cair em sono profundo, e isso era muito bom. Mas sentado ali, balançando a cabeça como uma coruja, olhando em volta as cabeças penduradas nas paredes com seus olhos vítreos reluzindo, fantasmagoricamente, à luz das chamas, ocorreu-lhe que ele queria mais duas coisas — quase sagradas, coisas que certamente ele jamais se atreveria a tocar enquanto o pai era vivo. Mas Rolando estava morto, e Tomás pegou outra cadeira para subir em cima e tirou o grande arco e a grande flecha do pai, o Martelo do Inimigo, do seu lugar na parede acima da cabeça de Niner. Por um momento, fitou diretamente um dos olhos verde-ambarinos do dragão. Vira muito através daqueles olhos, mas agora, olhando para eles, nada via além do seu próprio rosto pálido, como o de um prisioneiro olhando da janela de uma cela.
Embora no cômodo tudo estivesse profundamente gelado (o fogo iria aquecer tudo, pelo menos em volta da lareira, mas levaria algum tempo), pareceu-lhe que a flecha, estranhamente, estava morna. Lembrou-se vagamente de uma história que ouvira em pequeno — segundo a história, uma arma usada para matar um dragão nunca perdia o calor do dragão. Parece que a história era verdadeira, pensou Tomás, sonolento. Mas não havia nada de assustador no calor da flecha; na verdade, pareceu-lhe confortante. Tomás sentou-se empunhando frouxamente o arco em uma das mãos e o Martelo do Inimigo, com seu estranho calor dormente, na outra, sem ter a menor idéia de que o irmão estava vindo agora atrás daquela mesma arma, e que Flagg — o autor do seu nascimento e carcereiro da sua vida — estava no encalço de Pedro.
TOMÁS NÃO SE detivera a pensar no que faria se a porta dos aposentos do pai estivesse trancada, e tampouco o fez Pedro — nunca estivera antes e, como se verificou, não estava agora.
Pedro só teve de levantar o trinco. Irrompeu na sala, os outros aos seus calcanhares. Frisky latia furiosamente, com o pêlo todo arrepiado. Eu garanto que Frisky entendia melhor a verdadeira situação. Algo se aproximava, algo de um odor nauseante como os vapores letais que às vezes matavam mineiros de carvão no Baronato do Leste, quando os seus túneis chegavam fundo demais. Frisky lutaria com o dono daquele cheiro, se fosse preciso; lutaria e até morreria lutando. Se soubesse falar, Frisky lhes teria dito que aquele cheiro negro que se aproximava deles por trás não pertencia a um homem; era um monstro que os perseguia, uma Coisa terrível.
— Pedro, o que... — começou Ben, mas Pedro não lhe prestou atenção. Sabia do que precisava. Com as pernas trêmulas de cansaço, atravessou correndo a sala, levantou os olhos para a cabeça de Niner e estendeu a mão para pegar o arco e a flecha que sempre tinham estado pendurados acima da cabeça do dragão. Em seguida, deixou cair a mão.
Tinham sumido.
Denis, que fora o último a entrar, fechara a porta atrás de si e correra o ferrolho. Um único golpe fortíssimo atingiu a porta. As grossas pranchas de madeira de lei, reforçadas com tiras de ferro, ribombaram.
Pedro olhou por sobre o ombro, arregalando os olhos. Denis e Naomi recuaram. Frisky postou-se à frente da dona, rosnando. Seus olhos cinza-esverdeado mostravam o branco em toda a volta.
— Abram! — rugiu Flagg. — Abram esta porta!
— Pedro! — gritou Ben, e sacou a espada.
— Afastem-se!— gritou Pedro em resposta. — Se dão valor às suas vidas, afastem-se! Eles se espalharam em várias direções no exato instante em que o punho de Flagg, agora fulgurando como um fogo azul, se bateu de novo contra a porta. Gonzos, ferrolhos e tiras de ferro, tudo explodiu ao mesmo tempo com o fragor de um tiro de canhão. As pranchas grossas se despedaçaram. Estilhaços de madeira voaram. Os restos destroçados da porta ficaram de pé mais um momento, depois tombaram para dentro com um estalo seco.
Flagg estava parado no corredor, o capuz caído para trás. Tinha a cara branca como cera. Os lábios eram filetes repuxados vermelho-escuros para mostrar os dentes. Os olhos chamejavam como bocas de fornalha.
As mãos crispadas empunhavam o grande machado de carrasco.
Por um momento continuou parado, depois avançou um passo dentro da sala. Olhou à esquerda e viu Denis. Olhou à direita e viu Ben e Naomi, com Frisky agachada aos pés dela, rosnando. Ele os marcou... catalogou-os para futuras providências... e desinteressou-se. Avançou sobre os destroços da porta, agora olhando somente para Pedro.
— Você caiu e não morreu — disse. — Talvez esteja pensando que o seu Deus foi bom. Mas eu lhe digo que os meus deuses o pouparam para mim. Rogue agora ao seu Deus que o seu coração arrebente no peito. Caia de joelhos e implore por isso, porque eu lhe digo que a morte que eu lhe darei será muito pior que qualquer outra que você possa imaginar.
Pedro ficou parado onde estava, entre Flagg e a cadeira do pai, onde estava sentado Tomás, até aqui sem ser visto por ninguém. Pedro enfrentou sem medo o olhar infernal de Flagg. Por um momento, Flagg pareceu titubear diante de tamanha firmeza, depois seu sorriso desumano acendeu-se outra vez.
— Você e seus amigos causaram-me grandes dificuldades, meu príncipe — silvou Flagg. — Grandes dificuldades. Eu devia há muito tempo ter acabado com a sua vida miserável. Mas agora todas as dificuldades vão ter fim.
— Eu conheço você — respondeu Pedro. Embora desarmado, sua voz era firme e destemida. — Acho que meu pai também sabia quem você é, mas era fraco. Agora eu assumo meu reinado, e lhe ordeno, demônio.
Pedro retesou o corpo, elevando-se em toda a sua altura. As chamas da lareira refletiam-se em seus olhos, fazendo-os brilhar. Nesse momento, Pedro era dos pés à cabeça o rei de Delain.
— Desapareça daqui. Retire-se de Delain, agora e para sempre. Está banido. Ouviu-me? Desapareça.
Pedro trovejou a última palavra numa voz que era maior que a sua própria; trovejou-a numa voz que era de muitas vozes — as vozes de todos os reis e rainhas de Delain, desde os tempos remotos, quando o reino fora pouco mais que um ajuntamento de choças de barro e os habitantes se agrupavam aterrorizados ao redor de suas fogueiras nas noites de inverno, enquanto os lobos uivavam e os duendes ululavam nas Grandes Florestas do Passado.
Outra vez Flagg pareceu titubear... quase encolher-se. Depois avançou — devagar, muito devagar. O enorme machado balançava-lhe na mão esquerda.
— Pode dar suas ordens no outro mundo — sibilou. — Fugindo, você me caiu nas mãos. Se eu tivesse pensado nisso... e com o tempo viria a pensar... eu mesmo teria armado uma suposta fuga! Ah, Pedro, sua cabeça vai rolar no fogo, e você vai sentir o cheiro do seu cabelo queimando antes que o seu cérebro saiba que está morto. Vai queimar como seu pai queimou... e por isso hão de me dar uma medalha na Praça! Pois não é verdade que você assassinou o seu próprio pai pela coroa?
— Você o assassinou — disse Pedro. Flagg riu.
— Eu? Eu? Enlouqueceu no Obelisco, meu rapaz. — Flagg ficou sério. — Mas suponhamos... só por um momento... suponhamos que eu o tenha feito. Quem acreditaria?
Pedro ainda tinha enrolada em sua mão direita a corrente do medalhão. Estendeu a mão e o medalhão ficou pendendo dela, a oscilar hipnoticamente, projetando na parede reflexos avermelhados. À vista dele, Flagg arregalou os olhos e Pedro pensou: Ele o reconhece! Pelos deuses, ele o reconhece!
— Você matou meu pai, e não foi a primeira vez que armou tudo da mesma maneira. Você tinha esquecido, não? Vejo em seus olhos que sim. Quando Leven Valera se atravessou em seu caminho nos tempos infaustos de Alão II, a mulher dele foi encontrada envenenada. As circunstâncias fizeram com que a culpa de Valera parecesse inquestionável... do mesmo modo como fizeram com que a minha culpa parecesse inquestionável.
— Onde encontrou isso, pequeno bastardo? — Flagg sibilou, e Naomi soltou uma exclamação.
— Sim, você esqueceu — repetiu Pedro. — Imagino que criaturas como você, mais cedo ou mais tarde, sempre passam a repetir-se, porque criaturas como você só conhecem alguns truques muito simples. Depois de algum tempo, há sempre alguém que os percebe. Acho que é isso que sempre acaba por salvar-nos.
O medalhão balançava à luz do fogo.
— Quem se importaria agora? — perguntou Pedro. — Quem acreditaria? Muitos. Ao menos acreditarão que você é tão velho quanto no fundo eles sabem que você é, monstro.
— Dê-me isso!
— Você matou Eleonora Valera e matou meu pai.
— Sim, eu lhe trouxe o vinho — disse Flagg, com os olhos faiscando — e ri quando as tripas dele se incendiaram, e ri mais ainda quando você foi levado pela escada ao topo do Obelisco. Mas os que me ouvem dizer isto logo estarão todos mortos, e ninguém me viu trazer o vinho a esta sala! Só você foi visto!
E atrás de Pedro, uma nova voz falou. Não era uma voz forte; era tão baixa que mal se ouvia, e tremia. Mas deixou todos — Flagg inclusive — mudos de assombro.
— Houve um que viu — disse o irmão de Pedro, Tomás, do desvão da cadeira do pai, oculto nas sombras. — Eu vi, bruxo.
PEDRO DEU UM passo para o lado e fez meia-volta, o medalhão ainda a balançar no braço estendido.
Tomás!, tentou dizer, mas o espanto e o horror diante da transformação do irmão o impediram de falar. Tomás engordara e de certo modo envelhecera. Sempre se parecera mais com o pai do que Pedro, e, agora, a semelhança era tão extraordinária que chegava a ser sobrenatural.
Tomás!, tentou novamente dizer, e compreendeu por que o arco e a flecha não estavam mais em seu lugar acima da cabeça do dragão. O arco estava nos joelhos de Tomás, e a flecha encaixada na corda de tripa.
Foi então que Flagg gritou e arremeteu, levantando acima da cabeça o grande machado de carrasco.
NÃO FOI UM GRITO de raiva, mas de terror. O rosto branco de Flagg estava contorcido, os cabelos em pé. A boca tremia frouxamente. Pedro tinha-se espantado com a semelhança, mas reconhecera o irmão; Flagg foi completamente enganado pelo clarão bruxuleante do fogo e pelas sombras escuras das abas da cadeira em que Tomás estava sentado.
Esqueceu-se de Pedro. Foi contra o vulto da cadeira que arremessou o machado. Matara o velho uma vez com veneno, e, no entanto, ali estava ele sentado outra vez, em sua manta malcheirosa, manchada de hidromel, com o arco e a flecha nas mãos, fitando em Flagg um olhar desvairado e acusador.
— Espectro! — gritou Flagg. — Espectro ou demônio do inferno, tanto faz! Eu o matei uma vez! Posso matá-lo de novo. Aaaiii...!
Tomás sempre fora um excelente arqueiro. Embora raramente caçasse, freqüentara as canchas de arco-e-flecha, nos anos de prisão de Pedro, e, bêbado ou sóbrio, herdara o olho do pai. Tinha um excelente arco de teixo, mas nunca manejara um arco como este. Era leve e flexível, e ainda assim ele sentia uma força incrível em seu dardo de freixo. Era uma arma enorme, mas graciosa, com dois metros de ponta, e sentado ele não tinha espaço para encurvá-la totalmente; mas levou-a à sua tensão de 40 quilos sem nenhum esforço.
O Martelo do Inimigo era talvez a maior flecha que se fabricara, com sua haste de madeira endurecida, suas três penas tiradas da asa de um falcão anduano, sua ponta de aço polido. Na tração ela se aqueceu; ele sentiu o calor crestar-lhe o rosto como uma fornalha aberta.
— Você só me disse mentiras, bruxo — disse Tomás baixinho. E disparou.
A flecha voou do arco. Ao cruzar a sala, perfurou o centro do medalhão de Levan Valera, que ainda balançava no punho que Pedro, estupefato, mantinha estendido. A corrente de ouro partiu-se com um leve tinido.
Como eu lhes contei, desde aquela noite nas florestas do norte, quando ele e a tropa sob o seu comando acamparam depois da frustrada expedição atrás dos exilados, Flagg vinha sendo perseguido por um sonho de que não conseguia se lembrar. Sempre acordava dele com a mão apertando o olho esquerdo, como se ali tivesse sido ferido. O olho ficava ardendo por vários minutos depois de ele acordar, embora não houvesse nele nada de anormal.
Agora a flecha de Rolando, levando na ponta o medalhão de Leven Valera, voou através da sala de Rolando e mergulhou naquele olho.
Flagg soltou um grito estridente. O machado de dupla lâmina caiu-lhe das mãos, e o cabo daquela arma impregnada de sangue partiu-se em pedaços. Ele caminhou para trás, um olho chamejante pregado em Tomás. O outro fora substituído pelo coração de ouro com o sangue seco de Pedro na ponta. À volta das bordas daquele coração vazou um fluido negro malcheiroso — não sangue, com toda a certeza.
Flagg riu outra vez, caiu de joelhos...
...e de repente, desapareceu.
Pedro arregalou os olhos. Ben Staad soltou uma exclamação. Por um momento as roupas de Flagg conservaram-lhe a forma; por um momento a flecha ficou suspensa no ar, com o coração atravessado na haste. Em seguida, as roupas desabaram numa trouxa e o Martelo do Inimigo tombou no piso de pedra. A ponta de aço fumegava. Tinha fumegado assim muito tempo atrás, quando Rolando a desprendera da garganta do dragão. Por um momento, o coração se incandesceu com um fulgor vermelho fosco, e no lugar onde caiu quando o bruxo se volatilizou, deixou na laje uma marca indelével.
Pedro voltou-se para o irmão.
A estranha calma de Tomás desfez-se. Ele já não se parecia com Rolando; parecia um menininho apavorado e exausto.
— Pedro, eu lamento — disse ele, e pôs-se a chorar. — Você não pode imaginar o quanto eu lamento. Acho que agora você vai me matar, e eu mereço isso... sim, eu sei que mereço... mas antes quero dizer uma coisa a você: eu paguei. Sim, paguei. Paguei mil vezes. Agora, mate-me, se quiser.
Tomás levantou o queixo e fechou os olhos. Pedro caminhou em direção a ele. Os outros prenderam a respiração, com os olhos arregalados.
Delicadamente, Pedro fez o irmão levantar-se da cadeira do pai e abraçou-o.
Ficou abraçado com ele até que passasse a explosão de choro, e disse-lhe que o amava e que sempre o amaria; e os dois choraram, ali debaixo da cabeça do dragão, com o arco do pai aos pés. Os outros saíram devagarinho da sala e deixaram a sós os dois irmãos.
E AÍ VIVERAM FELIZES para sempre. Não é?
Não. Em que pese o que dizem as histórias, ninguém vive feliz para sempre. Tiveram seus dias bons, como vocês têm, e tiveram seus dias maus, que vocês conhecem. Tiveram suas vitórias, como vocês, e tiveram suas derrotas, que vocês também sabem o que são. Houve ocasiões em que se envergonharam de si mesmos, sabendo que não tinham feito o melhor que podiam, e houve ocasiões em que tiveram a certeza de estar onde o seu Deus queria que estivessem. O que estou tentando dizer é que viveram bem, na medida do possível, todos eles; uns viveram mais que outros, mas todos viveram bem e bravamente, e eu os amo a todos, e não me envergonho de amá-los.
Tomás e Pedro apresentaram-se juntos ao novo magistrado de Delain, e Pedro foi novamente detido. Seu segundo período de prisioneiro do rei foi bem mais curto que o primeiro — apenas duas horas. Tomás levou 15 minutos para contar a sua história, e o magistrado-geral, que tinha sido nomeado com a aprovação de Flagg e que era um sujeitinho acanhado, levou mais uma hora e 45 minutos para convencer-se de que o terrível feiticeiro se tinha realmente evaporado.
Então, todas as acusações foram derrogadas.
Nessa noite, todos eles — Pedro, Tomás, Ben, Naomi, Denis e até Frisky — reuniram-se nos antigos aposentos de Pedro. Pedro serviu vinho a todos, sem esquecer Frisky, que ganhou um pouco num pratinho. Só Tomás declinou de participar do brinde.
Pedro queria que Tomás ficasse com ele, mas Tomás insistiu — com razão, a meu ver — que se ficasse, os cidadãos iam querer reduzi-lo a picadinho pelo que ele permitira que acontecesse.
— Você era apenas uma criança — disse Pedro —, dominada por um ser terrível que o aterrorizava.
Com um sorriso, Tomás respondeu:
— Em parte é verdade, Pedro, mas o povo não se lembraria disso. Lembraria de Tomás, o Tributador, e todos iriam querer minha pele. Imagino que atravessariam pedras para me pegar. Flagg se foi, mas eu estou aqui. Minha cabeça não vale grande coisa, mas eu resolvi que prefiro mantê-la nos ombros por mais algum tempo. — Fez uma pausa, pareceu hesitar, depois continuou: — E sei que estarei melhor longe. Meu ódio e minha inveja eram como uma febre. Agora acabou, mas depois de alguns anos à sua sombra, enquanto você estivesse reinando, eu poderia ter uma recaída. Agora eu me conheço um pouco, como você vê. Sim... um pouco. Não; eu devo partir, Pedro, e esta noite mesmo. Quanto mais cedo melhor.
— Mas... para onde irá?
— Numa busca — disse Tomás simplesmente. — Para o sul, eu acho. Talvez você volte a me ver, talvez não. Vou para o sul numa busca... tenho muitas coisas em minha consciência, e muito o que expiar.
— Que busca? — perguntou Ben.
— Para encontrar Flagg — respondeu Tomás. — Ele está por aí, em algum lugar. Neste mundo ou em algum outro, ele está por aí. Eu sei; eu sinto o seu veneno no ar. Ele conseguiu fugir no último segundo. Vocês sabem disso, e eu também sei. Quero encontrá-lo e matá-lo. Quero vingar nosso pai e redimir o meu grande pecado. E vou primeiro para o sul, porque tenho o pressentimento de que é lá que ele está.
— Mas quem irá com você? Eu não posso... há muito para fazer aqui. Mas não permitirei que vá sozinho! — disse Pedro.
Ele estava apreensivo, e se vocês vissem um atlas daquele tempo compreenderiam a sua preocupação, pois o sul nada mais era que um grande espaço em branco nos mapas.
Surpreendendo a todos, Denis disse:
— Eu gostaria de ir, Majestade.
Os irmãos olharam para ele, espantados. Ben e Naomi também se voltaram, e Frisky levantou os olhos do seu vinho, que estava lambendo com alegre entusiasmo (ela gostava do cheiro, que era um violeta fresco e veludoso; não tão bom como o gosto, mas quase).
Denis ficou muito vermelho, mas não recuou.
— Você foi sempre um bom amo, Tomás, e... pedindo-lhe perdão, rei Pedro... algo dentro de mim me diz que você ainda é o meu amo. E como fui eu, meu rei, que encontrei aquele camundongo e mandei-o para o Obelisco...
— Bobagem! — disse Pedro. — Está tudo esquecido.
— Não por mim — disse Denis, obstinado. — Poderia dizer que também eu era jovem e não sabia de nada, mas talvez eu tenha os meus próprios erros a expiar.
Olhou timidamente para Tomás.
— Eu quero ir com você, meu senhor Tomás; se me quiser, estarei ao seu lado em sua busca.
À beira das lágrimas, Tomás disse:
— Eu o quero comigo de bom grado, meu bom Denis; só espero que saiba cozinhar melhor que eu.
Partiram nessa mesma noite, protegidos pela escuridão — dois vultos a pé, as mochilas carregadas, diminuindo na noite. Uma vez voltaram-se e acenaram.
Os três acenaram em resposta. Pedro chorava como se o seu coração fosse partir-se; na verdade, imaginou que isso poderia acontecer.
Nunca mais voltarei a vê-lo, pensou Pedro.
Bem... talvez tenha voltado, talvez não; prefiro acreditar que sim. O que lhes posso dizer é que, algum tempo depois, Ben e Naomi se casaram, Pedro governou por muito tempo e bem, e Tomás e Denis viveram muitas e estranhas aventuras, e tornaram a ver Flagg e a enfrentá-lo.
Mas já é tarde, e tudo isso é uma outra história, que fica para outra vez.
Stephen King
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















