



Biblio VT




A obra de Gorki abarca o processo total da maturação da crise revolucionária na Rússia, o processo que conduziu ao grande Outubro. Gorki é um grande escritor no sentido dos clássicos do realismo, pelo facto de focar este problema em todas as facetas. Não só exprime o crescimento do movimento revolucionário no proletariado e no campesinato, como também, simultaneamente, dá um passo decisivo para a caracterização da burguesia, da pequena burguesia e da "inteligentzia", e mostra como e porquê estas classes, já muito antes de rebentar a revolução, não podiam viver "à maneira antiga", como e porquê os conflitos irresolúveis que surgem necessariamente na vida das "camadas superiores" se desenvolvem até à formação de todas as condições da vitória da revolução.
A obra de Gorki não só abarca todos os aspectos, como também é de uma invulgar profundidade. A ele se pode aplicar o que Marx disse segundo Lafargue - sobre Balzac. Para Marx, Balzac fora não só o historiador da sociedade da sua época, mas "também, o profético criador de personagens que sob o reinado de Luís Filipe se encontravam ainda em estado embrionário, só se apresentando de uma forma desenvolvida depois da morte deste, sob o reinado de Napoleão III". Gorki foi o Balzac da sociedade da Rússia pré-revolucionária, apreendeu traços importantes que - embora naturalmente modificados na sua essência pela Grande Revolução, destruidora do antigo e criadora do novo- mantêm em grande medida o seu peso no período da ditadura do proletariado. A obra de Gorki revela-se "profética" porque apresenta tanto o padrão das diferentes lutas contra-revolucionárias visando a ditadura do proletariado, como os traços típicos dos restos do capitalismo.
Na sua família de VAGABUNDOS Gorki encontrava enfim homens que pensavam e diziam da burguesia aquilo que ele próprio sentia. O seu niilismo, o seu ódio à vida tem um conteúdo concreto: é o ódio ao burguês; a rudeza do velho Kachirine, as querelas sórdidas dos tios, a mesquinhez maldosa dos Porkhunov e dos Sergueiev, seus primeiros patrões, tudo o que, dia após dia, durante dezasseis anos, o cercou, esmagou, humilhou, tudo aquilo quanto o melhor do seu ser não deixou de combater, tudo isso ele encontra finalmente apontado a dedo e odiado. Ele que tanto procurara um refúgio para se proteger dos comerciantes, ei-lo bruscamente lançado para um meio atroz mas coerente que faz do ódio ao comerciante a sua justificação.
Este meio de vagabundos, extraordinariamente desenvolvido pela crise do capitalismo russo no começo da década de 80, é o meio humano que o jovem Gorki vive e do qual receberá o tema dos seus inúmeros contos e novelas, de que o presente volume é uma primeira recolha.
Nesse "niilismo" de conteúdo concreto, "niilismo" que colhe a sua seiva da miséria comum e da presença real do inimigo, apontado a dedo, Gorki encontra o seu caminho de escritor revolucionário. Nele, o amor pela vida não é uma exaltação gratuita, mas a expressão de um ideal humano em nome do qual é denunciada a mutilação do homem pela opressão capitalista; nem o niilismo é uma metafísica, mas a negação revolucionária do real inumano.
Por isso Gorki não é um romântico, mas um realista com uma perspectiva justa. Faz o processo de uma realidade que degrada o homem, tanto o carrasco como a vítima, mas, correlativamente, reconhece as mais altas qualidades humanas nos homens de mais baixa condição social, justifica com factos a sua confiança nas possibilidades que os homens trazem em si e chama-os à mobilização para a luta de TODOS contra um sistema que os mutila e envilece.
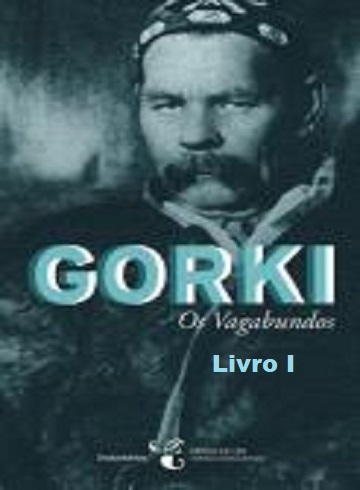
MAKAR TCHUDRA
Soprava do lado do mar um vento húmido e frio que espalhava, através da estepe, a melodia pensativa da vaga que quebrava o seu ímpeto na margem, e o murmúrio das árvores da costa. Por vezes rajadas de vento traziam até ao braseiro folhas secas e amarelas reanimando a chama; a bruma nocturna do Outono estremecia à nossa volta e por vezes afastava-se durante um segundo, como que assustada, deixando ver à esquerda a estepe sem limites, à direita o mar infinito e na minha frente a silhueta de Makar Tchudra, o velho cigano: vigiava os cavalos do seu campo, que se estendia até cerca de cinquenta passos de nós.
Indiferente às rajadas geladas que lhe abriam o seu tchekmene, desnudavam-lhe o peito peludo e o batiam impiedosamente, estava meio-deitado numa posição bela e cheia de vigor; com o rosto voltado para mim puxava metodicamente o fumo no seu enorme cachimbo, atirando-o depois para o ar em grossos novelos através da boca e do nariz. Fixava os olhos, por cima da minha cabeça, num ponto da escuridão silenciosa e morta da estepe, e falava-me sem se interromper, sem fazer um único movimento para se defender dos ataques do vento.
- Então, andas a passear? Acho bem! Escolheste o melhor bocado, meu rapaz. É isso mesmo que é preciso: vai e olha, e quando tiveres visto o que há para ver deita-te e morre, não há mais nada.
13
- A vida? Os outros homens? - prosseguiu ele depois de ter ouvido com ar céptico a minha objecção ao seu "é isso que é preciso". - Eh, eh! Que te pode importar, isso? Não és tu próprio, a vida? Os outros homens vivem sem ti e continuarão a viver. Achas realmente que alguém precisa de ti? Não és pão nem cajado; ninguém precisa de ti para nada.
"Aprender e ensinar o outros, dizes tu? Podes ensinar os homens a serem felizes? Não, não podes. Deixa que os teus cabelos embranqueçam antes de te declarares seu professor. Para lhes ensinar o quê? Cada um deles sabe o que precisa. Os mais inteligentes apanham o que lhes cai a jeito, os mais tolos não apanham nada, e cada um aprende por si próprio...
"Têm graça esses homens de que me falas. Amontoam-se e esmagam-se quando na terra, caramba, não falta lugar. - Passeou a mão pela estepe com um gesto largo. - E trabalham sem parar. Porquê? Para quem? Ninguém sabe. Vê-se um homem a lavrar e diz-se: vai esgotar as forças gota a gota, com o suor que liberta para trabalhar a terra, depois vai-se deitar dentro dela e apodrecer. Não ficará nada dele; não vê nada do campo que teve e morre tal como nasceu, o palerma.
"Que diabo! Então ele nasceu para revolver a terra e depois morrer sem ter tido tempo para cavar o próprio túmulo? Tem alguma ideia da liberdade? O espaço das estepes diz-lhe alguma coisa? O falar das vagas do mar, do vento na estepe alegram-lhe o coração? É escravo desde que nasceu, escravo toda a vida, nada mais do que isso. Que pode fazer de si mesmo? Enforcar-se apenas, se tiver algum juízo.
"Ao passo que eu, aqui onde me vês, aos cinquenta e oito anos, vi tanta coisa que se pusesse tudo nos papéis preto no branco, não caberiam em mil jornais como o teu. Diz-me um país qualquer onde eu não tenha estado! Não poderás fazê-lo. Nem sequer conheces países como aqueles por onde passei. Sim, é assim que é preciso viver: caminha, caminha, terás tudo. Não pares muito tempo no mesmo lugar. Para quê? O dia e a noite correm, expulsam-se um ao outro à volta da terra: faz como
14 ,
eles, não fiques parado a pensar na vida, com medo de a deixar de amar. Se começas a pensar é isso que te acontecerá. Também eu passei por isso. Também eu, meu rapaz.
"Estava na prisão, em Galitchine. "Por que estou estou eu na terra?" comecei a pensar, cheio de aborrecimento: na prisão aborrecemo-nos, meu rapaz. E de que maneira, caramba! A angústia apertava-me o coração ao olhar o campo pela minha janela; as suas tenazes prendiam-no violentamente. Quem poderá dizer por que vive? Ninguém, meu rapaz! E é uma pergunta que se não deve fazer. Vive, mais nada. E passeia, olha à tua volta: a angústia tomará conta de ti. Estive prestes a enforcar-me com o meu cinto, vê lá tu.
"He! Falei com um homem, um tipo severo da vossa raça, um Russo. Ele dizia: "Deve-se viver, não como se quer mas sim como está escrito na palavra de Deus. Submete-te a Deus e ele te dará tudo o que lhe pedires." Estava vestido de farrapos, andrajoso. E eu disse-lhe que então ele devia pedir a Deus um fato novo. Zangou-se e cobriu-me de insultos. E antes disso dizia que se devia amar os homens e perdoar-lhes. Se realmente eu o tinha vexado era a ocasião de me perdoar. Que belo professor aquele! Ensinam-nos a comer menos e eles comem dez vezes por dia.
Cuspiu no fogo e calou-se, enchendo novamente o cachimbo. O vento uivava suavemente o seu gemido, os cavalos relinchavam no escuro, do acampamento vinha até nós uma canção cossaca terna e apaixonada. Era a bela Nonka, a filha de Makar, que cantava. Conhecia-lhe a voz de peito, de timbre cheio, cujas sonoridades tinham sempre algo de estranho, de irritado e exigente, quer cantasse uma canção quer dissesse simplesmente "bom dia!". No rosto dela, moreno e trigueiro, tinha-se fixado uma altivez de rainha, e nos olhos castanhos, escuros, velados de sombra, cintilava a consciência da sua beleza irresistível e o desprezo por tudo o que não era ela própria.
Makar passa-me o cachimbo.
- Fuma! Canta bem a rapariga, hem! Ah, sim, gostarias
15
que uma como ela te amasse? Não? óptimo! É assim mesmo: não acredites nas raparigas e mantém-te ao largo Uma rapariga tem mais prazer e atractivo a fazer com que a cubram de beijos do que eu a fumar o meu cachimbo; mas se a beijas a vontade morre no teu coração. Ficarás ligado a ela por um laço invisível que não poderás evitar mais e abandonar-lhe-ás toda a tua alma. É verdade! Tem cuidado com as raparigas. Elas mentem sempre. Dizem que te amam mais do que tudo no mundo, mas experimenta dar-lhes uma alfinetada; dilaceram-te o coração. Eu sei-o muito bem. Eh! Eh! Sei-o bem! Queres que te conte, meu rapaz, uma história verdadeira? Recorda-te sempre dela, e, enquanto a lembrares, serás toda a tua vida um pássaro livre.
"Havia uma vez um cigano que se chamava Zobar, Loíko Zobar. Toda a Hungria, e a Tchéquia e a Eslavonia, e todos os países à volta do mar o conheciam: era um rapagão intrépido! Não havia em todos esses países uma única aldeia onde não houvesse meia dúzia de rapazes que não tivessem jurado perante Deus matá-lo, mas ele não perdia a saúde por isso, e se um cavalo tivesse a infelicidade de lhe agradar, podiam pôr um regimento a guardá-lo que era tempo perdido: Zobar acabava por se pavonear em cima dele. Eh, eh! Quem lhe poderia meter medo? Mesmo que ele visse avançar para ele o próprio Satanás e todo o seu cortejo, podes estar certo que lhe teria dado uma facada ou, pelo menos, lhe teria atirado com um chorrilho de injúrias. De qualquer modo os demónios teriam levado com o pé dele na nádega, essa te garanto eu.
"Todos os acampamentos o conheciam ou tinham ouvido falar dele. Só gostava dos cavalos e mais nada; e mesmo dos cavalos, nem sempre gostava do mesmo. Partia, vendia o animal, e o dinheiro era de quem o quisesse. Nunca tinha nada: se tivesses necessidade do coração dele, tê-lo-ia arrancado do peito para te dar, para te fazer a vontade. Era um homem assim, aquele meu rapagão!
"A nossa tribo acampava nesse tempo em Bukovine, há-de haver uma dezena de anos. Uma vez, numa noite de Primavera, estávamos sentados, eu, Danilo, o soldado
16
que combateu com Kossuth, o velho Nur, e todos os outros, além de Radda, a filha de Danilo.
"Conheces a minha Nonka? É a rainha das raparigas! Sim, mas não podes comparar Nonka a Radda, seria muita honra para Nonka! Para falar dela, dessa Radda, as palavras seriam impotentes. Talvez se possa tocar a beleza dela no violino mas para isso ainda seria preciso conhecer o violino como a nossa alma.
"Ela amargurou um bom número de corações de jovens. Oh, oh! E quantos! Na Morávia, um magnate, um velho audacioso, tinha-a visto e tinha ficado petrificado. Estava a cavalo e olhava-a, trémulo como se tivesse sido atravessado por uma febre. Era belo como o diabo num dia de festa: um trajo de brocado, ao lado um sabre que reluzia como um relâmpago a cada movimento do cavalo, todo o sabre coberto de pedras preciosas e um boné de veludo azul como um pedaço de céu: cheio de majestade, o velho senhor! Olhou-a, olhou-a durante muito tempo, depois disse-lhe - Eh!, daria uma bolsa de dinheiro por um beijo teu. - Mas ela voltou-se sem fazer caso. - Desculpa-me se te magoei, mas olha para mim, pelo menos, amavelmente. - O velho magnate tinha abatido a proa e lançou-lhe aos pés uma bolsa, uma grande bolsa, meu caro! Mas ela, como que sem querer, enterrou-a na lama com o pé, nem mais nem menos.
" - Raio de mulher! suspirou ele. Uma chibatada no cavalo e a poeira ergueu-se numa nuvem.
"Mas no dia seguinte reapareceu. - Quem é o teu pai? - trovejou ele através do acampamento. Danilo apareceu.- Vende-me a tua filha, dou-te o que quiseres.- E Danilo a responder-lhe: - Só os nobres vendem tudo, os porcos e a consciência. Eu combati ao lado de Kossuth e não sou traficante. - O outro ia por-se a gritar e levou a mão ao sabre. Mas um de nós pôs uma isca acesa na orelha do cavalo e o galanteador desapareceu. Pela nossa parte tratámos de levantar o acampamento e partimos. Caminhámos dois dias; mas aí veio ele atrás de nós. - He, boa gente-, juro diante de Deus que a minha consciência está pura, dai-me a rapariga em casamento: sou muito rico, partilharei tudo convosco. - Estava
17
ruborizado e balouçava em cima do cavalo como a erva das estepes sob o vento. Nós ficámos pensativos.
" - Muito bem, minha filha, fala! - disse Danilo por entre os bigodes.
"- Se a águia entrasse de livre vontade no ninho do corvo, que lhe aconteceria? - perguntou-nos Radda.
"Danilo riu-se e nós acompanhámo-lo.
" - Muito bem dito, minha filha. Ouviste, Excelência? A coisa não marcha. Procura rolas, são mais fáceis.
"Partimos novamente. E a excelência atirou com o chapéu ao chão e partiu também, com um galope de estremecer a terra. Era assim aquela Radda, meu rapaz.
"Ora uma noite estávamos sentados e ouvíamos: uma música flutuava pela estepe. Uma bela música! Aquecia o sangue nas veias, era um apelo vindo de longe. Todos sentíamos a música, dava-nos a todos vontade de qualquer coisa após a qual não haveria mais necessidade de viver, ou, se realmente fosse preciso viver, seria como reis do universo, meu velho.
"Então destacou-se da escuridão um cavalo: em cima dele vinha um cavaleiro que avançava tocando. Parou junto da nossa fogueira e ficou ali, sorridente, a olhar-nos.
" - Então, Zobar, és tu? - gritou-lhe alegremente Danilo.- Ei-lo aí, Loíko Zobar!
"Os bigodes dele caíam-lhe para os ombros e misturavam-se com os cabelos encaracolados, os olhos brilhavam como estrelas claras-, e o sorriso era um sol puro, juro-te. Ele e o cavalo pareciam forjados num único pedaço de ferro. Estava ali, inteiro, no rubor da fogueira, como que banhado de sangue, e ria com todos os dentes brancos à vista. Maldito eu seja se não o estimava já como a mim mesmo, ainda antes de ele me ter dito uma palavra ou notado sequer a minha existência!
"Sim, meu rapaz, existem homens assim! Olhava-te nos olhos, cativava-te a alma e não te sentias envergonhado; mais ainda, sentias-te orgulhoso. com um homem como ele, tu próprio tornavas-te melhor. Homens assim não há muitos, meu velho! Tanto melhor, de resto. Se o bem fosse coisa vulgar não seria considerado um bem. Não é assim? Mas ouve o resto.
18
"Radda disse-lhe: - Tocas bem, Loíko! Quem te fez um violino tão sonoro e tão sensível? - Ele começou a rir. - Fi-lo eu mesmo: e não o fiz de madeira, mas com o peito de uma rapariga que amei muito, e trancei as cordas com as fibras do seu coração. O violino ainda mente um pouco, mas tenho o arco bem seguro na mão.
"É sabido, nós, homens, esforçamo-nos por entristecer rapidamente os olhos das raparigas para que eles não nos inflamem o coração, antes pelo contrário se velem de pena por nossa causa. Foi isso que fez Loíko; mas estava enganado. Radda voltou-se e disse bocejando: E pensar que há quem te pretenda inteligente! Como as pessoas mentem! - Depois afastou-se.
" - Eh!, minha beleza, tens dentes aguçados! - disse Loíko com os olhos brilhantes, descendo do cavalo.- Boa-noite, amigos. Aqui estou, convosco.
" - Sê nosso hóspede - disse Danilo em resposta. Abraçámo-nos, trocámos algumas palavras e fomo-nos deitar... Dormimos profundamente. E de manhã, que vemos? Zobar tinha a cabeça envolta num trapo. Que se tinha passado? Tinha sido o cavalo que o ferira durante o sono, com uma patada.
"He, hé, hé! Sorrimos por detrás dos nossos bigodes; tínhamos compreendido quem era aquele cavalo. Danilo também sorriu. Quê, Loíko não valia Radda? Mais ainda. Uma rapariga pode ser muito bela, mas mantém a alma estreita e mesquinha; podes pendurar-lhe ao pescoço uma libra em ouro, é o mesmo, não vale mais por isso. Enfim, adiante.
"Vivemos muito tempo naquele lugar: os nossos negócios naquela época caminhavam bem, e Zobar estava connosco. Aquilo era um camarada! Esperto como um antigo, perito em todas as coisas e sabia ler o russo e o magiar. Às vezes, quando se punha a contar, ficaríamos toda a vida a ouvir-lhe as histórias. E tocava... que um raio me fulmine se alguma vez algum homem tocou como ele. Passava o arco pelas, cordas e o coração estremecia, voltava a passá-lo e o coração desmaiava; ele tocava e sorria. Tinha-se vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Ora era o gemido de um infeliz que pedia socorro
19
e nos atravessava o peito como punhais, ora era o canto da estepe que contava ao céu contos, contos cheios de tristeza. Uma jovem chora conduzindo o seu pretendente! O rapaz que suplica à jovem para que o siga na estepe. E de súbito, eia!, uma canção livre, viva, rebenta como uma tempestade e o próprio sol parece pronto a dançar no céu ao ritmo daquela melodia. É assim meu rapaz!
"Cada veia do corpo entendia aquela canção e cada um de nós tornava-se completamente seu escravo. Se nesse momento Loíko tivesse gritado: - Aos punhais, camaradas! - teríamos todos partido para nos batermos com quem ele designasse. Podia fazer tudo de um homem, e todos o estimavam, estimavam-no imenso, só Radda não tinha olhos para ele; e ainda não seria mau se ela ficasse por aí, mas ia mais longe, e escarnecia-o. Ela tinha atingido violentamente o coração de Zobar; sem exagero, violentamente! Loíko rangia os dentes, puxava pelos bigodes, os olhos eram mais escuros do que o abismo e por vezes viam-se cintilar neles clarões que nos lançavam o pavor no coração. À noite partia para longe, pela estepe, e o violino chorava até de manhã, chorava e enterrava a liberdade de Zobar. Deixávamo-nos estar deitados a ouvi-lo e perguntávamo-nos: que fazer? Sabíamos muito bem que quando dois rochedos rolam um para o outro não nos devemos meter entre eles se não quisermos ser esmagados. E era isso que estava a acontecer.
"Estávamos sentados, todos juntos, e falávamos dos nossos assuntos. Ao fim de um certo tempo ficámos aborrecidos. Danilo pediu a Loíko: - Zobar, canta uma canção para nos alegrar o coração! - Loíko lançou um olhar a Radda que estava deitada perto dele, com o rosto voltado para o céu, e fez vibrar as cordas. Então o violino começou a falar como se tivesse realmente um coração de rapariga. E Loíko cantou:
Hei! Hei! O meu amor é um braseiro
A estepe é vasta e infinita.
Leve como o vento o meu cavalo galopa,
Os meus braços são fortes...
20
"Radda levantou a cabeça, ergueu o busto e começou a rir. Ele ficou incendiado como um sol nascente.
Hei! Hop! Hei! Vamos, companheiro fiel, Galopemos a direito, para a frente. A estepe vestiu o seu trajo cinzento Mas lá ao fundo aguarda-nos a aurora.
Hei! Hei! Vamos, velozes, ter com o dia, Ergue-te nos ares.
Tem cuidado, não roces as tuas crinas Pela Senhora da Lua.
"Ah!, como ele cantava! Hoje já ninguém sabe cantar assim. E Radda, como se distilasse água, dizia-lhe:
- Não devias voar tão alto, Loíko, podes cair com o nariz nalguma poça e sujar os bigodes de lama. Tem cuidado. - Loíko lançou-lhe um olhar irritante, mas não disse nada e continuou a cantar:
Hei! Hop! A manhã chegará de repente e estaremos os dois a dormir dentro dela. Hei! Hei! Será assim, e então nós os dois ficaremos corados, com o espanto.
" - Isso é uma canção! - disse Danilo. - Nunca tinha ouvido semelhante canção, que o Diabo me transforme em cachimbo se minto.
"O velho Nur fazia oscilar os bigodes, endireitava os ombros, e todos se sentiam maravilhados com a canção audaciosa de Zobar. Só Radda não a achou a seu gosto.
" - É assim que um dia o mosquito trombeteia para imitar o grito da águia - disse ela. As palavras foram uma espécie de duche gelado.
"- É talvez o chicote que estás a pedir, hem, Radda? - Danilo fez um movimento em direcção a ela; mas Zobar atirou com o boné para o chão e disse, negro como a terra:
"- Pára, Danilo! Para um cavalo fogoso, freios de aço. Dá-me a tua filha por mulher.
21
" - Bem dito! - respondeu Danilo, rindo. - Toma-a, com o meu consentimento, se puderes! !
" - bom! - disse Loiko. Depois dirigiu-se à rapariga.
" - Olha, Radda, ouve-me com atenção e não te faças orgulhosa. Vi muitas mulheres, é verdade. Mas nenhuma me atingiu o coração como tu. Ah!, Radda, agrilhoaste a minha alma! Vamos! O que tem de ser tem muita força, e não há cavalo nenhum em que se possa galopar para longe de nós mesmos... Tomo-te por mulher diante de Deus, diante da minha honra, diante do teu pai e de todas estas pessoas. Mas tem cuidado, não entraves a minha liberdade: sou um homem livre e viverei como entender.
- Aproximou-se dela, com os dentes cerrados e os olhos brilhantes. Estendeu-lhe a mão. Nós pensámos: Ora vejam, ela passou o freio no cavalo da estepe. E de súbito Radda fez um gesto, ele atirou os braços para o ar e caiu redondo no chão.
"Que prodígio era aquele? Dir-se-ia que uma bala tinha atingido o coração do rapaz. Radda tinha-lhe envolvido as pernas com o chicote, depois tinha-o puxado bruscamente para si e Loiko tinha caído.
"A rapariga voltou a deitar-se, rindo em silêncio. Nós estávamos atentos ao que se ia passar, mas Loiko estava sentado no chão, com a cabeça entre as mãos como se tivesse medo de a ver explodir. Depois levantou-se devagar e partiu para a estepe sem olhar para ninguém. Nur cochichou-me: - Vigia-o!-, e eu deslizei atrás dele, pela estepe, na escuridão da noite. Era assim meu rapaz!"
Makar limpou o cachimbo e começou a enchê-lo. Embrulhei-me melhor no meu capote e, deitado, examinei-lhe o velho rosto curtido pelo sol e pelo vento. Abanava a cabeça com ar grave e severo, cochichava para si próprio; os bigodes grisalhos mexiam e o vento despenteava-o.
Assemelhava-se a um velho castanheiro, batido pela tempestade mas ainda possante, sólido e orgulhoso da sua força. O mar, como antes, conversava com a margem e o vento continuava a espalhar o seu murmúrio através da estepe. Nonka tinha deixado de cantar e as nuvens
22
acumuladas no céu tornavam a noite de Outono ainda mais sombria.
"Loíko caminhava com um passo arrastado e os braços pendentes como as fitas de couro do chicote. Quando chegou à ravina, perto do ribeiro, sentou-se numa pedra e soltou um suspiro de tal modo angustiante que o meu coração se sentiu inundado de sangue e de compaixão; mas apesar de tudo não me aproximei. As boas palavras não retiram nada ao desgosto, não é verdade? Claro! Ficou ali uma hora, depois outra hora. À terceira ainda não se mexia, quieto, no mesmo lugar.
"Deixei-me estar deitado, ali perto. A noite estava luminosa, a lua inundava de prata a estepe inteira e via-se como em pleno dia.
"De repente, que vejo! Radda, que vinha do acampamento.
"Alegrei-me, claro! Eh! Estupendo! pensei eu. Audaciosa moça, esta Radda. E eis que se aproxima dele e ele não a ouve. Ela pousa-lhe a mão no ombro: Loíko estremece, solta as mãos, ergue a cabeça. Ei-lo que salta e leva a mão à faca. Ai, vai matá-la!, tive a certeza e pensei alertar o acampamento, correr para eles, mas de súbito ouvi:
"- Deita isso fora, ou faço-te saltar os miolos! Olhei: Radda tinha na mão uma pistola e visava Zobar na fronte. Diabo de rapariga! bom, pensei eu, são ambos da mesma força: que irá acontecer agora?
"Ouve! - Radda enfiou a pistola no cinto e disse a Zobar: - Não vim para te matar, mas sim para fazer a paz. Deita fora a tua faca! - Ele obedeceu-lhe e olhou-a nos olhos com ar indiferente. Era maravilhoso, meu velho! Dois seres assim, frente a frente, a olharem-se como feras e ambos tão bravos, tão altivos... A lua brilhante olhava-os, eu olhava-os também. E eis tudo.
" - Ouve-me bem, Loíko: eu amo-te! - disse Radda. Ele encolheu simplesmente os ombros como se tivesse as mãos e os pés ligados.
" - Vi muitos rapazes, mas tu és mais altivo e mais belo que todos eles. Todos teriam rapado os bigodes por um olhar dos meus, todos teriam tombado a meus pés,
23
bastaria eu querer. Mas para quê? Nenhum deles era suficientemente audacioso, a todos eu teria facilmente metido as rédeas. Poucos ciganos restam no mundo, Loíko, muito poucos. Nunca amei ninguém, mas a ti amo-te. Ah, Loíko, mas amo também a minha liberdade! À minha liberdade, Loi'ko, amo mais do que te amo a ti. Mas não posso viver sem ti como tu não podes viver sem mim. Portanto quero que sejas meu de corpo e alma, compreendes? - O outro pôs-se a rir.
" - Compreendo. O teu discurso alegra-me o coração. Continua.
"- Quero-te dizer, Loíko, que faças o que fizeres, cansar-te-ei, acabarás por ser meu. Por isso não percas tempo para nada: os meus beijos, as minhas carícias esperam-te... enlaçar-te-ei violentamente, Loíko. com o meu abraço esquecerás a tua vida intrépida... e as tuas canções vivas que alegram tanto os corações dos jovens ciganos não ecoarão mais na estepe; cantarás canções de amor, canções ternas para mim, a tua Radda... Não percas tempo para nada: já disse. Amanhã prestar-me-ás homenagem como ao teu mais velho, curvar-te-ás a meus pés diante de todo o acampamento e beijarás a minha mão direita; então serei tua mulher.
"Ali estava o que ela queria, aquela filha do Diabo. Não se podia encontrar na memória uma coisa como aquela: na antiguidade, pelo que diziam os velhos, era assim entre os Montenegrinos, mas nunca entre os ciganos. Procura, meu rapaz, tenta encontrar uma invenção mais estranha! Podes quebrar a cabeça durante um ano, não conseguirás.
"Loíko afastou-se dela com um salto e lançou através da estepe um grito como um homem ferido no peito. Radda teve um arrepio, mas não se rendeu.
" - Então até amanhã, e amanhã farás o que mandei. Ouves, Loíko?
" - Ouço! Fá-lo-ei! - gemeu Zobar estendendo-lhe os braços. Ela nem sequer o olhou e ele começou a vacilar como uma árvore quebrada pelo vento, depois caiu no chão sacudido por risos e soluços.
24
"Eis como a maldita Radda o tinha esgotado com torturas. Tive dificuldade em fazê-lo voltar a si.
"Eh!, Eh! Que diabo de necessidade têm os homens de se transirem de desgosto? Quem ama ouvir os gemidos de um coração de homem, dilacerado pelo desgosto? Pensa nisso, é uma coisa para meditação...
"Regressei ao acampamento e contei tudo aos antigos. Reflectiram e decidiram esperar para ver o que aconteceria. Ora o que aconteceu foi isto: quando estávamos todos reunidos, à noite, à volta do fogo, Loíko veio também. Tinha um ar perturbado e emagrecera terrivelmente numa noite; os olhos estavam mergulhados nas órbitas, baixou-os e disse-nos sem os erguer:
"-A coisa é esta, companheiros: esta noite examinei o meu coração e não encontrei nele lugar para a minha vida livre de outrora. No meu coração só vive Radda e nada mais. Ei-la, a bela Radda, que sorri como uma rainha. Ela ama a sua liberdade mais do que eu e eu amo-a mais do que à minha liberdade, e decidi prostrar-me a seus pés: ela assim o ordenou para que todos vejam como a sua beleza submeteu o temerário Loíko Zobar que antes de a ver brincava com as raparigas como o gerifalte com os patos. E depois disso ela será minha mulher, e será terna para mim e dar-me-á beijos de tal modo que deixarei de ter vontade de cantar canções, e não lamentarei a minha liberdade. Não é assim, Radda?
- Levantou os olhos e olhou-a com um olhar pensativo. Ela, silenciosa e implacável, acenou afirmativamente com a cabeça e com a mão mostrou os pés. E nós olhávamos tudo aquilo sem compreender muito bem. Tínhamos vontade de ir embora para não vermos Loíko cair aos pés de uma rapariga, mesmo que essa rapariga fosse Radda. Sentíamos vagamente vergonha, dor e piedade.
" - Então! - gritou Radda a Zobar.
" - Eh, eh! Não tenhas pressa, tens tempo de te saciar...- começou a rir; um riso que se diria ter o som do aço.
" - Eis o problema todo, companheiros! Que me resta fazer? Tentar ver se a minha Radda tem realmente o coração
25
tão duro como me mostrou. É isso que vou tentar, meus amigos, perdoem-me.
"Ainda não tínhamos tido tempo de adivinhar o que Zobar queria fazer e já Radda estava deitada no chão; no peito dela, mergulhada até ao cabo, a faca curva de Zobar. Ficámos paralisados.
"Mas Radda arrancou a faca, lançou-a para o lado e comprimindo a ferida com uma mecha dos seus cabelos negros, sorridente, disse com uma voz forte e distinta:
" - Adeus, Loíko! Eu sabia que agirias assim!
"Depois morreu.
"Podes compreender aquela rapariga, meu rapaz? Que eu seja maldito no Inferno, se não era uma mulher diabólica.
"Loíko uivou então através da estepe: - Sim, rainha orgulhosa, eu me dobrarei a teus pés. - Lançou-se ao chão, colocou os lábios nos pés e ficou inteiriçado nessa posição. Tirámos os nossos bonés e ficámos de pé, em silêncio.
"Que dizer em casos como este, meu caro? Ah, sim, Nur devia dizer: - É preciso amarrá-lo!... - Mas as mãos não se teriam erguido para ligar Loíko Zobar, ninguém as teria mexido e Nur sabia-o. Teve um gesto de impotência e afastou-se um pouco. Danilo apanhou o punhal que Radda retirara, e olhou-o longamente, mexendo os bigodes grisalhos; o sangue de Radda ainda não tinha secado; a lâmina era curva e pontiaguda. Danilo aproximou-se de Zobar e enterrou-lhe a faca nas costas mesmo sobre o coração. O velho soldado Danilo era também o pai de Radda.
" - Finalmente! - disse claramente Loíko, voltando-se para Danilo. Depois partiu para ir ter com Radda.
"Nós olhávamos. Radda no solo, a mão no peito apertando a mecha de cabelos, os olhos abertos ao céu azul e, a seus pés, estendido, o intrépido Zobar. Os anéis de cabelo caíam-lhe para a cara e não se lhe via o rosto.
"Mantínhamo-nos em pé e meditávamos. Os bigodes do velho Danilo tremiam e as sobrancelhas espessas estavam franzidas. Olhava para o céu, em silêncio. Nur, de cabelos brancos como o busardo, deitou-se com a cara
26
contra o chão e começou a chorar com uma violência que lhe sacudia os ombros.
"Havia razão para chorar, meu rapaz.
"...Vais andar pelo mundo, segue o teu caminho sem deixar que te desviem. Vai a direito. Talvez não pereças em vão. E é tudo, meu rapaz."
Makar calou-se, escondeu o cachimbo na bolsa e fechou a roupa no peito. Chuviscava, o vento ganhara força, o mar trovejava surdamente, raivosamente. Um após outro os cavalos aproximavam-se do fogo que se extinguia e, depois de nos olharem com os seus grandes olhos inteligentes, ficavam imóveis, cercando-nos num anel compacto.
- Hop, hop, he oí! - gritou-lhes Makar com voz acariciante. Dando uma palmada sonora no pescoço de um cavalo negro, o seu preferido, disse para mim:
- São horas de dormir! - Depois envolveu-se na roupa e, estendido sobre a terra, possante, calou-se. Eu não tinha sono. Olhei a sombra da estepe e no ar, diante dos meus olhos, flutuava a silhueta real da bela e altiva Radda. com a mão comprimia uma mecha de cabelos negros contra a ferida do peito, e, através dos finos dedos bronzeados, o sangue pingava, gota a gota, caía na terra como flamejantes estrelas vermelhas.
E atrás dela, muito perto, planava o intrépido Zobar: espessos anéis de cabelos velavam-lhe o rosto de onde corriam sem cessar grossas lágrimas frias.
A chuva caía com mais força e o mar entoava o seu hino fúnebre ao par orgulhoso dos belos ciganos: Loíko Zobar e Radda, filha do velho soldado Danilo.
Ambos se moviam harmoniosamente e sem ruído na sombra da noite, e o belo Loíko não podia apanhar nunca a orgulhosa Radda.
27
28
O JOVEM PASTOR E A FADAZINHA
CONTO VALAQUIO
As histórias que os homens contam são frequentemente tristes; não procuremos conhecer a razão desse facto e ouçamos antes uma delas, um conto novo sobre um tema antigo, que se pode ouvir nas margens do Danúbio, do rio azul...
Ao longo deste rio há uma floresta, velha e poderosa. Começa na própria margem e mergulha na profundidade das planícies; as ramagens prolongam-se por cima das ondas azuis e sonoras e as raízes nodosas e enrugadas deixam-se beijar e lavar pelas águas que acorrem à margem com um ruído suave e acariciador.
Na floresta viviam elfos, fadas e velhos gnomos, sábios, que tinham construído sob as raízes palácios onde meditavam acerca da vida e de todos os outros assuntos em que convém meditar para se ser sábio. A noite saíam para as margens sombrias e, sentados em pedras recobertas por um macio musgo verde-escuro ou em velhos troncos de árvore abatidos pela tempestade, contemplavam as ondas que corriam para o mar, vindas de um longe incompreensível, tenso como uma cortina de trevas enevoadas, e prestavam atenção ao murmúrio do rio.
Era também naquela floresta que habitava a velha rainha das fadas com as suas quatro filhas; a mais jovem era a mais alegre, a mais bela e a mais audaciosa. Era
29
muitc? pequena e a cabeça delicada, coberta por uma onda de anéis prateados, parecia uma flor de lis, amplamente desabrochada.
percorria a floresta durante dias inteiros; quando se sentia fatigada sentava-se nos ramos de uma velha faia que se erguia perto da orla, do lado que dava para a estepe. Era o seu lugar preferido; dali, através da cortina espessa de ramos verdes e perfumados que, como o mar, ondulavam ao menor sopro de vento, via a imensidade infinita da estepe: começando imediatamente após a floresta, ela ia até lá em baixo, no longe cor-de-rosa e azul em que o limite se confundia com a cor suave do céu.
Sentava-se no alto dos ramos, o vento balançava-os amenamente, e ela cantava, sob a carícia do sol, a felicidade de ser fada e de viver numa velha floresta sombria.
Era amada pelos pássaros, pelas borboletas e por todos os que com ela viviam; era feliz, muito feliz! E de súbito aconteceu-lhe essa triste história que me foi contada pelos pescadores do Danúbio.
Era no mês de Maio, um mês encantador, um mês alegre. A folhagem nova que o mês tinha feito nascer, de um verde magnífico, clamava alegria; o rumor dessa folhagem formava uma longa onda sonora que se alongava pelo céu de um azul vivo onde flutuavam suavemente brancas nuvens macias que fundiam sob os raios ardentes do alegre sol primaveril. A fada balouçava nos ramos da grande faia e cantava. Os velhos ramos rangiam, e isso fazia nascer uma música suave; a sua verdura louvava ruidosamente as canções da bela fada:
Como é bom, nos ramos de uma laia,
balouçar na clara manhã de Maio,
mergulhada na onda de perfumes,
harmonias e sons da floresta.
Era a sua canção preferida e nunca acabava.
Como é bom saltar de ramo em ramo
como um pequeno esquilo que rasga com a sua pata branca .
a fina teia das aranhas.
30
Subitamente, chegou-lhe aos ouvidos, como que em resposta à sua, uma outra canção, sonora e audaciosa:
Como é bom, na estepe imensa, inundada pela névoa do calor, acompanhar, no mar celeste, o lento navegar das nuvens.
A fada ficou admirada e assustou-se um pouco; aquela canção vinha da estepe e aquele que a cantava sabia fazê-lo. A voz soava, harmoniosa e bem timbrada, e, como que para gracejar com ela, convidava-a a rivalizar.
O vento desencadeia-se em rajadas, percorre a estepe como um louco, e até parece pretender soprar no céu a luz das estrelas.
Quem cantava assim não era uma cotovia, nem um rouxinol: ela conhecia-lhes todas as canções. Quem era então? Teve curiosidade de o saber.
Como é belo ver o ramo dos olmeiros de braço dado com o dos castanheiros.
Depois calou-se. E como era mulher, era vaidosa; por isso pensou que o bosque, desde a sua origem, nunca tinha ouvido canção mais bela do que a que acabara de cantar nesse momento. Mas antes que a floresta tivesse tido tempo para lhe agradecer com o ruído dos seus ramos, este canto ecoou pela estepe:
ó estepe natal! De uma ponta a outra cobre-te o esparto prateado. Os ventos esvoaçam sobre ti como se fossem gigantesco pássaro e tu sonhas sob a sua carícia. Lá muito no alto, por cima de ti vagabundeiam como fumos os voos das nuvens no azul...
31
A fadazinha trepou como um esquilo para o cimo da faia, e contemplou a estepe. O dia acabava de se consumir: os longes da estepe estavam tintos de púrpura brilhante, como se tivessem estendido uma enorme cortina de veludo, de pregas cintilantes como reflexos de ouro. No esplendor desse fundo desenhava-se uma estranha e bela silhueta; com um comprido cajado na mão e uma branca pele de carneiro dos ombros à cintura. Erguia-se em cima de um desses montículos onde vivem as toupeiras e, com os braços estendidos para a floresta, cantava. Não se via mais nada. E quando a canção sonora e ousada terminou, a fada teve uma vontade tão forte de ver o cantor mais de perto que estava pronta a correr até lá; mas recordou-se dos relatos da mãe acerca desses homens que percorrem a estepe e que é preferível não encontrar se se quer evitar a infelicidade, e reteve-se. Silenciosa, sem poder sair dali, mantinha os olhos fixos no cantor. Ele, uma vez terminada a canção, agitou o cajado acima da cabeça, lançou em direcção à floresta um "Adeus!" e partiu com passo ligeiro pela estepe, onde vogavam ao seu encontro finos farrapos de sombra azul-escuro; partiu e recomeçou a cantar:
Nada há mais triste do que ver a planície árida e despida.
A voz da fada ao entoar este desafio vibrava como campainhas de prata, e recebeu em resposta:
A velha floresta amuada entrelaça os ramos negros para esconder aos meus olhares a cúpula azulada dos céus.
Então a fada zangou-se. Acaso o azul do céu não era visível através dos ramos do arvoredo? Quem cantava aquela canção não devia ter estado nunca na floresta. E que havia de bom na planície despida e infindável?
32
Mesmo um sábio não o poderia dizer. Gritou com voz forte em direcção à estepe:
Quando a tempestade varre a estepe o vento muge cantos selvagens, e a floresta estremece apavorada: O ruído do seu espanto tira-me o sono.
Quando apurou o ouvido, percebeu que alguém ria alegremente na estepe:-Oh! O malcriado! - gritou ela, sentindo o desejo de se encolerizar.
Canto os louvores da floresta
entoou ela melodiosamente. Toda a floresta, até ao menor arbusto, rumorejou amigavelmente com a sua folhagem aveludada; e a voz de Maía, como uma cotovia, subiu para o céu:
Pássaros, ouvi a minha voz.
E os passarinhos, que cantavam infatigavelmente, calaram-se para escutar e aprender o louvor da floresta.
Ecoa, intrépido, meu canto,
alonga-te no céu esplêndido
e tu, sol, cobre a minha canção
com o manto de ouro dos teus ralos.
Que as suas notas sejam luzes
límpidas, puras e claras,
que voem sem palavras para
a floresta serena, através da noite,
que cintilem como pirilampos
na verdura dos velhos castanheiros.
33
Então ergueu-se, erecta, num dos ramos principais, atirou a cabeça para trás com um ar inspirado e, levantando para o céu a delicada mão branca, prosseguiu o canto:
Minha antiga, boa, maravilhosa floresta
és um universo secreto...
És um reino miraculoso!
Nos perfumes magníficos
de todas as flores que embalas,
os pássaros, num coro divino,
glorificam-te.
Em cada folha, em cada ramo
há uma borboleta, um escaravelho;
sob as raízes a virtuosa toupeira
constrói o seu palácio subterrâneo.
O coelho tímido e a raposa,
a cobra amarela e o esquilo,
os loucos elfos, os gnomos sábios,
escolhem asilo no teu seio.
Todos os pássaros cantariam, ó floresta!, durante mil anos, noite após noite, dia após dia, não conseguiriam cantar tudo minha maravilhosa, possante amiga.
Mas de longe vinha outra voz:
A brisa expulsa as nuvens; a sua sombra plana na estepe; o esparto prateado inclina-se sob o peso da sombra no seu caule. O murmúrio suave do esparto deslisa no céu em ondas calmas. Parece-me que em voz baixa narra as lendas que alegram o meu coração adolescente...
34
Como um ponto negro no espaço volteja, plana, uma águia: O seu grito de rapina desce furioso, possante...
O reino da força livre
és tu, minha estepe poderosa...
Depois as palavras da canção deixaram de se distinguir, só os sons chegavam até à floresta. E a fada sentia um grande prazer em os ouvir; quando eles próprios desapareceram, perdidos na planície sem limites das estepes, ela perdeu de vista, ao mesmo tempo, a silhueta do cantor, afogada no mar fofo das trevas.
Pensativa, desceu para o solo, regressando em silêncio ao seu palácio. Mas aquilo que anteriormente lhe despertava imenso interesse, os jogos dos elfos com as borboletas, o cintilar dos pirilampos, o trabalho das aranhas entre os raminhos, o ruído das folhas sob os seus passos, as sombras delicadas sobre tantas coisas, e os gnomos que partiam em passeio, curvados como um arco, nada disso lhe detinha agora os olhos claros. Pensava naquele que cantava tão bem as belas canções, longe, na estepe, e tinha uma grande vontade de saber quem ele era. Encontrou a mãe e as irmãs que se preparavam para ir ao casamento de um arganaz de grande mérito; convidaram-na também. Mas isso deixara de lhe apetecer. A mãe perguntou-lhe:
- Por que tens esse ar tristonho, Maia? Sentes-te fatigada? Ou foram esses velhos patifes dos corvos que te amedrontaram uma vez mais.
- Não, não é isso, mamã, não é nada disso. - E contou à mãe tudo o que lhe tinha acontecido. Depois perguntou o que podia aquilo significar.
As irmãs não se surpreenderam absolutamente nada com aquele relato, e exclamaram:
- Ele era simplesmente um pastor e tu és uma patetínha.
E fugiram, rindo, atirando flores e gritando:
- Esperamos por vocês.
35
- Sim, minha filha, - confirmou a fada-mãe - não era mais do que um pastor. Deve ser ainda novo, por isso ainda canta. Quando tiver vivido, deixará de saber cantar.
Tinha muita experiência, esta rainha das fadas.
- O que é um pastor, mamã?-perguntou Maía.
- Um pastor é também um homem. Apascenta as ovelhas, por isso lhe chamam pastor. Apesar de tudo os pastores são melhores do que os outros homens; não são tão maus nem tão mentirosos. Talvez porque vivem todo o tempo com as ovelhas.
- Mas ele não me pode fazer mal nenhum, pois não, mamã?
- Sim, penso que pode, apesar de tudo é um homem. Mas, é claro, ele não virá ter contigo e tu também não irás ter com ele, não é verdade? Portanto não tens necessidade de ter medo, minha filha.
Repito-o uma vez mais, a rainha das fadas era uma mulher rara, era inteligente e conhecia bem os homens. Mas, aparentemente, dessa vez tinha esquecido qualquer coisa.
Maia calou-se e saíram para a boda do arganaz. Havia lá muito movimento; toda a floresta estava ali! reunida. Uma enorme multidão de grilos e de cigarras! formavam uma orquestra que tocava muito bem; elfos e borboletas, e outros habitantes da floresta dançavam e cantavam. A rainha das fadas e as filhas estavam sentadas num majestoso trono de túlipas e alguns gafanhotos serviam-nas apresentando-lhes ora orvalho com seiva de violetas ora leite de nozes silvestres e toda a espécie de outros petiscos e guloseimas. Os sábios gnomos discutiam entre si a vida e outros mistérios, e os mais inteligentes reforçavam a sua opinião de que efectivamente tudo era vaidade das vaidades e pura quimera. O movimento e a vivacidade eram enormes.
O noivo era gentil, muito digno; além disso não era nada estúpido e possuía uma grande fortuna. Os convidados não se podiam, efectivamente, lamentar de qualquer falta. Era com sorrisos amáveis que prestavam atenção às considerações dele, de que "o essencial
36
na vida de uma sociedade e a família e que, convicto desse facto, casava-se, pelo que, de algum modo, prestava um serviço à sociedade, acrescentando um elo à cadeia de ouro das famílias".
A noiva sentia-se certamente muito feliz porque se mantinha calada todo o tempo; quando se lhe fazia uma pergunta, em lugar de responder, sorria com um sorriso suave.
Maia aborrecia-se; aproveitando um momento em que isso foi possível, perguntou ao arganaz o que ele pensava dos pastores:
- Os pastores... sim... brr... Conheço-os, claro! Sim, princesa, tive relações com eles, eu. São sempre pobres e por isso são todos salteadores, patifórios. Claro, é evidente: eles não possuem outra propriedade além de si próprios, e, é do conhecimento geral, quem não tem propriedade é um ladrão, se não de que poderia viver se o não fosse? De resto, pode também ser sustentado por alguém, o que ainda é pior, porque apesar de tudo roubar é um trabalho. Um desses pastores atirou-me um dia com o seu longo cajado e perseguiu-me até eu ter conseguido desaparecer debaixo da terra. É assim como lhe digo.
- E por que lhe atirou com o cajado? - perguntou Maia.
- Porquê? Pela simples razão, segundo penso, de eu ter tido a imprudência de passar perto dele. Nada mais. É que os pastores são homens, pode dizer o que quiser, não se lhes pode pedir mais.
Maia continuava a aborrecer-se. Tudo o que se passava diante dos seus olhos já não era tão interessante como antes. Sentiu-se feliz quando a mãe declarou que era tempo de regressarem. Partiram. Os pirilampos corriam à frente delas para iluminarem o caminho. A floresta já dormia e as estrelas olhavam-na do alto dos céus, sorrindo-lhe suavemente com ar pensativo.
Chegaram a casa. Maía deitou-se na sua pequena cama de muguet. Quando adormeceu viu a estepe, infinitamente vasta, queimada pelo sol, e, lá, em cima dos montículos, estavam numerosos pastores com longos cajados na mão; o vento brincava-lhes com os anéis de cabelo
37
castanhos. Cantavam com voz cheia uma canção assustadora, que falava da liberdade e da estepe, e perseguiam os arganazes gritando muito alto: "Eh-Oh!". Eram terríveis e maus e metiam-lhe medo. Mas isso não a impediu, logo que o sol se ergueu, de correr ao seu local preferido e trepar para os ramos da faia:
Ele estava lá e cantava:
Era uma vez uma fada
da floresta, junto do rio,
que em cada noite se banhava.
Uma vez, sem querer, a imprudente,
deixou-se prender nas redes
e os pescadores apanharam-na.
Então Marko, bom camarada, tomou nos braços a doce fada. Beijava-a apaixonadamente.
Ela torcia-se nas mãos dele como um frágil ramo de vime. Nos olhos de Marko os olhos dela mergulhavam. Quem saberia porque tão doce soava o seu riso.
Amaram-se assim por todo o dia. Ao cair da noite ela desapareceu; as forças de Marko foram-se com ela.
Errava todo o dia pela floresta, à noite sentava-se na margem do Danúbio. Interrogava as ondas: - Onde está a minha fada? Mas as ondas azuis riam, riam! - Não o sabemos.
Na faia negra, na faia amarga, na faia Marko se enforcou. Os amigos enterraram-no bem fundo, numa ravina, perto do Danúbio.
38
Todas as noites, sem ruído, Vem-se sentar no túmulo a fada, e fica ali, sentada, a rir... Ah!, como ela ama a alegria!
A fada banha-se no rio, Como o fazia, antes de Marko. Marko morreu, Marko não é mais do que a canção dos seus amores.
Que estranha canção!, pensava a fada Quem o ensinou a cantar? E a fada daquela canção é estranha e Marko também é estranho. Porque é que Marko se enforcou e que significa enforcar-se? Parecia-lhe que não era uma canção alegre: pelo contrário, uma canção muito triste. E no entanto o pastor cantava-a tão alegremente!... Ela olhava-o através das copas das árvores e desejava que ele se aproximasse um pouco mais, mas ele não vinha e continuava a cantar. Agitava no ar o cajado, segundo o ritmo, e quando acabava uma canção exclamava com voz sonora: "Eho", começando logo depois uma outra.
Ainda sei outra canção que fala de um velho Cossaco: de noite, no seu barquinho descia o curso do rio.
Na água os peixes despertavam com o ruído dos remos, e no céu adormecido a lua também navegava.
Nos olhos das estrelas-mulheres cintilava toda a ternura; elas sabiam o que se ia seguir: o triste destino do velho.
Maía ouvia e pensava que .nenhum outro cantor sabia tantas canções, nem tão belas. Como eram belas e tristes as canções! E como era verdade o que ele dizia das estrelas
39
que sabiam tudo o que pode acontecer amanhã e até mesmo mais tarde! Era bom ouvir canções novas! Maía, sem reparar, saltou de ramo em ramo até à orla da floresta.
Uma ondina sentou-se no barco, subitamente, arrancando-lhe das mãos O remo sem ele contar.
prosseguiu o cantor, e aí, parou, olhando pensativo para o longe, assobiando suavemente a melodia da sua canção: "Eho!".
Ela é bela,
jovem e nua.
Dos cabelos soltam-se
gotas de diamante.
Sorridente, brinca
com a barba do Cossaco.
Fala com ele: - Queres
amar-me, velho engelhado?
como poderias fazê-lo?
Olha-te, fraco e débil;
as tuas carícias não atingiriam
a chama do meu desejo
para me estreitar longamente.
És muito fraco, velho Cossaco...
Vamos! Tenta! Abraça-me
como eu faço... Assim... assim...
Ela apossa-se dele, começa
a abraçá-lo e a murmurar
ao ouvido
as suas canções.
Maía ouvia e pensava: "Como é bonito!" Nos raios de luar o corpo da ondina aparecia macio e transparente, a cabeleira caía em anéis espessos entre os quais ele cintilava, como claridade ofuscante; ela torcia-se como uma serpente sobre o peito largo do Cossaco e os
40
fi os de prata da barba misturavam-se com os cabelos de ouro da ondina, e ela cantava de maneira acariciadora e terna, e a sua canção era certamente suave como o marulho das ondas no Outono ao baterem nos canaviais; o brilho dos olhos era tão vivo como o das estrelas que cintilavam no veludo azul-escuro do céu, que sorriam e inundavam com a luz dos seus finos raios o rio e o barco e aqueles que, sentados dentro dele, se abraçavam... Como tudo aquilo era belo!... E havia também a música... a música provocada pelo marulho das ondas, o ruído dos beijos, o sussurro do arvoredo na margem" que se afogava nas moles vagas de trevas e as calmas canções da ondina... Tudo isso se fundia num hino terno e triste cujo nome é alegria de viver.
E o cantor continuava:
O Cossaco sente a emoção
de um resto das suas forças...
"Eu posso!"... O seu murmúrio
desliza nas águas calmas,
sem despertar, na sombra,
as margens adormecidas...
Como um floco no céu puro
flutua, diminui,
e morre tristemente, algures...
O universo está adormecido
e o pobre velho não escuta
qualquer outra voz na noite...
O rio, belo como sempre,
rola as suas ondas como seda,
mas o pobre homem
já não pertence aos vivos!
A pupila da ondina
não seduzirá o seu coração.
O pobre Cossaco dorme, no fundo de um buraco
E nada mais.
Terminava assim a canção do pastor. Maía não esperava semelhante fim e sentiu-se muito triste. Era tão belo
41
e de súbito acabava tão cruelmente! E porquê esse "E nada mais"? Havia tantas coisas belas!... Olhava o pastor, agora ele estava perto e ela via que também ele se sentia triste. Tinha a cabeça baixa e abanava-a suavemente, com os olhos no chão. Teve vontade de conversar com ele, e, sem voltar a pensar no que poderia acontecer, gritou-lhe:
- bom dia! Diz-me por que razão as tuas alegres canções terminam de um modo tão triste?
O pastor teve um sobressalto, aproximou-se até à orla da floresta e, descobrindo-a entre os ramos, sorriu com um olhar dos seus olhos castanhos, fez-lhe um sinal com a cabeça e respondeu-lhe:
- Porquê? Porque todas as canções têm um fim e, até agora, pelo que ouvi dizer, nada acaba conforme começou. És tu que enches a floresta com os teus cantos? Então é assim que tu és? Tinha a certeza de que eras pequena, flexível e delicada; a tua voz parece-se contigo.
Calaram-se e começaram a examinar-se um ao outro. Apoiando o cotovelo no cajado, colocou a cabeça no côncavo da mão e contemplou, longamente, voltado para o alto, os ramos através dos quais o olhava um pequeno rosto branco de olhos luminosos cor de noz. E como ele era encantador no enquadramento da folhagem de Maio!
- Cantas muito bem! - disse Maía depois de ter contemplado à sua vontade aqueles olhos negros como um abismo e as faces bronzeadas cobertas com uma penugem dourada.
- Canto como posso, - respondeu o pastor - nem melhor nem pior, rapariga. Desce para o chão, para que eu te possa ver melhor. É que tu és uma beleza, sabes?
Oh! Isso ela sabia, podemos estar certos. À noite, quando os regatos que corriam pela floresta adormeciam, ela admirava muitas vezes o seu rosto e todo o resto. Todas as belas sabem que o são; e quase sempre o sabem antes de estar em idade de o saber. Podemos imaginar que se fosse de outra maneira haveria certas coisas que seriam muito diferentes.
42
Maía tinha vontade de descer mas lembrou-se do que diziam o arganaz e a mãe.
- Tu és mau? - perguntou ela.
- Quem? Eu? Não sei; sou um pastor.
- Isso já eu sei - apressou-se ela a dizer. - Então és bom?
- Não sei - repetiu o pastor, sacudindo alegremente os caracóis.
- Se é assim, não poderei ir ter contigo, porque decerto és mau. Só há os maus e os bons, não há outras espécies. Tu queres-me enganar.
- Mas que patetinha tu és!-exclamou o pastor.- Faz como quiseres. Se não queres vir não venhas, mas se vieres dar-te-ei um beijo.
- Não quero que me beijes.
- Oh! Não estás a dizer a verdade! Todas as raparigas querem ser beijadas, pensas que não sei?
- Mas eu não quero.
- Neste momento, é possível; mas daqui a uma hora, ou amanhã, também quererás. com certeza não vais passar toda a vida a trepar às árvores? É assim, é impossível fugir.
Maía começou a reflectir: "Se é realmente inevitável talvez seja melhor beijá-lo já. E decerto deve ser muito agradável beijá-lo ali, naquela covinha que ele tem na face quando sorri, e na outra, na outra face."
- Bem, vou descer! - disse ela rindo. E saltou dos ramos, direita aos braços dele.
- Oh! Como tu és leve! - disse ele olhando-a nos olhos; e beijou-a nos lábios.
Oh! Como era bom! Doce como a seiva do muguet, quente como um raio de sol estival, o beijo, como um maravilhoso sangue novo, correu-lhe nas veias até ao coração que se pôs a bater violentamente, com força e com doçura.
Ela beijou-o por sua vez e ele devolveu-lhe o beijo, e mais uma vez, mais uma vez, e beijaram-se interminavelmente.
Já a tarde caía, o sol deitava-se; a floresta escurecia e ao longe, na estepe, começaram a rastejar as sombras
43
avançadas da noite. Foi então que Maía se lembrou de que tinha de voltar para casa. Mas não sentia qualquer vontade de o fazer, sentia-se tão bem junto do pastor!
- Já vais embora? - perguntou ele. - Não ficaste muito tempo! Mas volta amanhã; quando chegares dir-te-ei uma coisa.
- Virei; sinto-me bem junto de ti. Mas diz-me já o que queres dizer; assim não estarei a pensar nisso de noite disse Maía.
- E se o souberes, não o pensarás na mesma?
- Como pensar naquilo que se sabe?
- Não, fica para amanhã.
- Até amanhã.
Beijaram-se; Maía partiu através da floresta e o pastor cantou, para a acompanhar, uma das suas canções. Desta vez porém era uma canção agradável e terna como o vento do Verão e não uma das antigas, vigorosas e fortes como o vento das estepes.
Maía chegou a casa e contou tudo o que lhe tinha acontecido nesse dia. Em toda a sua vida, não tinha visto a mãe e as irmãs tão assustadas nem tão melancólicas como ficaram depois de a ter ouvido. A mãe, ora se encolerizava, ora começava a chorar, dizendo constantemente:
- o que tu fizeste, minha tola, o que tu fizeste! - As irmãs calavam-se e a floresta também se calava, pensativa e reprovadora. Maía sentia-o e tinha medo sem saber de quê.
- Minha filha, - soluçava a mãe - perdeste-te a ti própria.
As irmãs mantinham-se num silêncio mortal e choravam.
- Porquê, mamã? Vejamos, o facto de nos termos beijado não tem nada de perigoso, é simplesmente agradável. Ele disse que de qualquer maneira beijar-se é necessário, se não fosse hoje, seria amanhã, era inevitável!
- Mas é um homem, minha filha!
Mas Maía não compreendia toda a profundidade do abismo que essas palavras comportavam; ela tinha a sua própria linguagem dizendo que era agradável beijar e ser beijada, que o pastor era belo, e que tudo o que acontecera
44
devia acontecer inevitavelmente. Uma e outra tinham razão e quanto mais discutiam mais consideravam que tinham razão; a discussão acabava como sempre: sentiam-se vexadas e zangavam-se uma com a outra.
- Não te afastarás da casa, para mais longe do que aquele castanheiro - disse a mãe.
O castanheiro ficava a três passos do quartinho de Maía. Essa ordem vexou-a ainda mais. Aproximou-se dele e sentou-se na espessa cortina verde dos seus ramos. Ficou sozinha. A mãe e as irmãs tinham entrado no palácio com murmúrios agitados. Todos aqueles acontecimentos tinham-na fatigado e adormeceu profundamente, porque a sua consciência estava pura como o orvalho da manhã que acaba de tombar do céu.
Adormeceu, e em sonhos viu a estepe inundada por um sol ardente, e o pastor. Ele cantava canções, sorria e beijava-a. Os olhos dele cintilavam e os dentes brilhavam como pérolas sob a penugem dos bigodes negros.
Sentia-se tão bem! E quando acordou, oh, como sentia vontade de correr para lá, para a estepe! Mas recordou que isso estava proibido à pequena Maía, e sentiu-se vexada e triste. Teria sido preferível não ter contado nada acerca do pastor, em casa!... Mas ela não sabia calar aquilo que lhe acontecia... Aí vem a mãe. Os velhos cabelos grisalhos são penteados pelo vento, e as borboletas, voando-lhe à volta da cabeça de modo a formar uma coroa, velam para que não caia no velho e amável rosto, agora tão preocupado e severo, o menor grão de poeira.
- Eu irei até à estepe, mamã! - disse Maía, meio-interrogativa, meio-resoluta.
- Não irás, minha filha. Se fores estás perdida - disse a rainha-mãe aproximando-se dela. Explicou-lhe então longamente que era preferível ignorar o que dá um minuto de alegria e anos de sofrimento, e que a alma só era livre quando não a dominava qualquer amor; que o homem ama-se demasiado a si próprio para poder amar outrem longamente; e muitas outras coisas sensatas e talvez verdadeiras, mas, em todo o caso, não tão agradáveis como os beijos do pastor e de modo algum comparáveis. Maía ouviu muito atentamente e muito tempo, até ao momento
45
em que chegou da estepe, e se repercutiu pela floresta, o sonoro "Eho", e que atrás dele voaram as belas notas harmoniosas da canção do pasto
Quem deseja viver
não deve perder tempo.
Quem quer saborear a vida, as alegrias,
quem deseja a felicidade
não pode perder tempo.
Vem! Vem! Aguardo-te ansiosamente.
Vem depressa! Para ti, o meu coração
entoará canções de alegria.
Oh! Vem! Não percas um momento.
Maía ouvia aquela canção e o seu coração repetia-a. A voz da mãe soava como um zumbido de vespa, as notas da canção como um apelo de águia.
- Não. Irei! - disse Maía, e a floresta começou a zumbir em resposta aos gritos de dor da rainha.
- Minha filha! Não vás!
- Mas isso é cruel, mamã! Eu quero e tu não queres, por que é que as coisas se devem passar segundo a tua vontade? Tens de compreender que aquilo que eu quero, quero mesmo.
- Minha filha!... Eu sei o que vai acontecer. Não vás!
- E eu não sei coisa nenhuma, e irei.
- Então deixarás de ser minha filha - disse a rainha. A floresta mais uma vez repetiu o seu grito.
As mães infelizes esquecem sempre, não se sabe porquê, o tempo em que elas próprias eram apenas filhas; daí, muitos gritos supérfluos; mas isso não impede que as coisas sigam o seu curso.
Maía teve medo, e, quando viu a mãe afastar-se, teve ainda mais medo. Mas da estepe chegou esta canção:
Vem! A vida é pobre de felicidade!
E é tão curta!... Apressa-te.
Bebe a taça da vida até ao fundo,
depressa, antes que ela esfrie.
46
Maía olhou à sua volta. Os ramos nodosos dos carvalhos e os ramos brancos e esbeltos das bétulas entrelaçavam-se tão estreitamente que nunca tinha penetrado
tão pouco sol na floresta através dos seus ramos. O ar
estava húmido e abafado. Sentia-se menos o perfume das
flores e da fresca verdura de Maio, do que o cheiro das
folhas que apodreciam, e outro odor ainda mais pesado...
; Ao passo que lá diante, na estepe, era o espaço aberto,
?; a luz! Vinha de lá uma canção:
Vem! Se queres viver, ousa.
Apressa-te! Sem piedade, sem medo...
Ouve apenas o teu coração,
não o aprisiones, solitário.
Parecia a Maía que a floresta tinha entrelaçado os
seus ramos ainda mais estreitamente no sentido de a
impedir de partir, e que os cimos das árvores, inclinando-se para ela murmuravam: - Não partas; lá, espera-te
o desgosto, e ainda outra coisa.-Tinha a impressão de que elas se iam abater de repente no seu caminho; apesar de tudo queria partir, e decidiu-se. Foi do mais profundo do coração que lhe jorrou este canto de desafio
e de desejo:
O eco das canções encantadoras
abre doce alegria no meu peito.
Oh, floresta! Por que te encolhes? Tenho medo. Mas o meu coração não resiste
; aos ecos das canções encantadoras.
ó floresta! Há tão pouco sol
que não poderia cantar mais claro
Aborreço-me! Cansa-me viver aqui.
É lúgubre o emaranhado dos teus ramos.
O sol atravessa-os com dificuldade.
Quero a liberdade! Quero a estepe!
A tua sombra oprime o coração
Basta de muralhas verdes!
Deixa-me partir, se não queres a minha perda.
Quero a liberdade, o sol, a estepe.
47
- Maía! - gritaram as irmãs, erguendo-se todas três, ao lado uma das outras, no meio do caminho.
- Minha filha, queres então quebrar-me o coração? exclamou amargamente a rainha-mãe estendendo os braços para ela.
Maía parou. Uma sensação de frio e de terror que nunca experimentara, apossou-se dela. Mas a estepe enviava a canção:
Vem meu amor, o meu coração
está fatigado de tanto esperar.
A parte de felicidade que a vida nos reserva
dar-ta-ei toda inteira.
Maía não olhou a mãe nem as irmãs. Lançou-se para a frente, empurrando-as, e desapareceu. Quando se refizeram da surpresa, Maía já não estava ali. A floresta gritava surdamente e, ao pé do grande castanheiro, jazia a velha rainha com a sua coroa de cabelos prateados, com os braços em cruz e sem respiração.
- Estou aqui! - exclamou Maía, correndo para o pastor.- Os teus cantos arrancaram-me à floresta e arrancaram do meu coração tudo o que nele se encerrava até ao momento em que os ouvi. E pronto... abandonei a floresta, e a minha mãe, e tudo... e vim ter contigo
- Mas isso é maravilhoso! Agora és livre; olha: eis a estepe, não tem limites e toda ela é tua. E também eu sou teu se o quiseres, e tu és minha. Ou então não há tu nem eu, mas simplesmente nós, e tu és eu.
"Vê como é maravilhoso. Somente na estepe se está bem, porque se é livre. Viveremos como pássaros; cantar-te-ei as minhas canções, cantar-me-ás as tuas. Seremos os dois mais felizes do que alguém o foi alguma vez. Esquece o que ficou para trás, e sê a minha bem-amada.
- Sim - suspirou Maía. - Serei a tua bem-amada! Cantas tão bem! Já esqueci o que há na floresta... Não tenho saudades dela... nem da minha mãe... nem
48
das minhas irmãs. Só lamento o meu colchão de muguet que ficou lá em cima. Aqui é tão duro! Onde vou dormir?
- Que ideia! Dormirás nos meus braços e pousarás a cabecinha no meu peito. Não te sentirás mal... Cantarei suavemente, suavemente, e as minhas canções embalar-te-ão. Sei muitas canções.
Tomou-a nos braços e ela colocou a cabeça delicada no peito dele, forte e bronzeado... Ele começou a cantar e o sol contemplava-os do alto dos céus, radiante. Não flutuava neles a mais pequena nuvem, a mais leve; estavam puros como a alma da pequena fada, e só as cotovias, que os olhos não podem atingir, misturavam as suas canções com os raios do sol: por cima da estepe, na planície ilimitada dos céus, flutuava uma música maravilhosa...
O pastor sentou-se à sombra de uma árvore solitária que, amante da liberdade, se afastara da floresta para crescer em plena estepe; erguia-se orgulhosa e altivamente, balouçando suavemente os ramos sob a carícia do vento que soprava do mar. O pastor, com os olhos nos olhos de Maía, brincava com a capeline de asas de borboletas que ela tinha atirado para as costas e cantava ternamente:
Minha bela flor! Deixa tombar
o manto de veludo que te aquece:
o azul do céu é puro
e a sombra tão fresca...
É bom deitarmo-nos
num tão belo dia de Verão.
A voz dele tilintava como minúsculas campainhas de prata:
A brisa é suave e perfumada.
Trás até nós, de toda a parte
suspiros, murmúrios e ruídos...
Dormir será delicioso;
o sono será terno e puro
na maravilha de um tão belo dia.
49
Maía adormeceu ao som desse canto; adormeceu com um sono suave e feliz; através das brumas do sono via os raios correrem dos olhos do pastor direitos ao seu coração. Ele queimava-a com beijos e ela retribuía-lhos sem contar. Como era bom! Depois ela voou como um um pássaro rápido, e ao seu encontro o céu teve um sorriso apaixonado, tórrido...
Quando acordou a noite já flutuava pela estepe. Como sois belos e poderosos, vós, liberdade, amor! E Maía cantou uma velha canção de rouxinol que celebrava o amor, e introduziu-lhe, pela sua própria iniciativa, o elogio da liberdade. Mas quem pode misturar o vinho com o fogo ou substituir o fogo pelo vinho?... Resultará daí uma má canção; o elogio da liberdade soava temerário e forte; mas essas notas destoavam no meio da doce e terna melodia em louvor do amor. Mas o pastor beijou-a, ela beijou-o, e ninguém reparou, salvo os pássaros, que o canto da liberdade não se acorda com o do amor.
Viveram assim. Cantavam e beijavam-se desde o romper do dia, e beijavam-se e cantavam quando a noite cobria a estepe. Iam e vinham, percorrendo-a, livres e alegres como os pássaros. Viviam assim. Por vezes, à noite, quando o sol desaparecia e a estepe ficava envolta com um fino véu de escuridão, este cobria também o coração de Maía, enevoando ligeiramente o brilho dos seus olhos. Mas o pastor beijava-a então mais ternamente e com mais frequência; enquanto a beijava a lua aparecia por detrás da floresta e inundava toda a estepe com o seu azul-prateado; então, tal como na estepe, a obscuridade desaparecia do coração da fadazinha. Viviam felizes...
Um dia porém a tempestade começou a acumular-se ao longe; começou inicialmente por uma simples nuvem azul-escuro. Atravessou apressadamente toda a estepe inundada com a luz ardente do sol e, ao longo da corrida, surgiam sombras que pareciam traduzir um tenebroso sorriso culpado: como se a pequena nuvem quisesse dizer que não dependia de si esconder o sol e assustar os pássaros; era o vento que o tinha ordenado. Passou rapidamente e na sua esteira rastejaram outras
50
nuvens, maiores ou mais pequenas. Arrastavam-se e contemplavam com ar desgostoso a estepe e Maía lá sentada com o pastor. Depois reuniram-se como um sombrio exército azul-escuro e dominaram todo o céu.
O vento, numa estranha borrasca, lançou-se por cima da estepe em direcção ao mar. Galopava e rugia, com um rugido selvagem e terrível, empurrando diante de si um turbilhão de folhas secas; a erva curvava-se medrosamente para o solo. Maía, aterrorizada, apertou-se contra o peito do pastor e este exclamou com voz forte: "Ohé!" Depois perguntou-lhe, beijando-a nas faces:
- De que tens medo? Não é mais do que uma tempestade que se amontoa, vais ver como é divertido. Nada há no mundo mais belo e mais forte do que a tempestade. Ah!, quando ela passar pela estepe, quantas folhas, de ouro lançará para a terra, quantas canções selvagens uivará! Sabes por que há tempestades? Ah!, não sabes nada disso! É o céu, estás a ver, que olha para a terra e por fim se zanga porque ela o esquece. Tem pena dela e talvez também a ame um pouco... Mas quando se zanga, reúne todas as nuvens que encontra, arma-as de relâmpagos, lança tudo numa trovoada por cima da terra, com ar de quem diz: tenham cuidado, se eu quiser vai tudo pelos ares. A tempestade é isso; agora já sabes!
- Agora é que tenho medo! - suspirou Maía. - Vamos lá para baixo - disse, voltando-se para o lado da floresta.
- Fugir da tempestade? Essa agora! Se não a queres vai ao encontro dela, desse modo passará por ti mais depressa. Mas quanto a escapar-lhe, não o conseguirás. De todas as maneiras não tens necessidade de ter medo! A tempestade! Ohé! Não vale nada. Sê firme e basta!
Mas tudo o que ele dizia não a acalmava. Tremia com medo e apertava-se fortemente contra ele; não queria lançar os olhos lá para baixo, no longe, agora todo negro.
Começaram a cair gotas grossas e frias; onde caía uma gota erguia-se uma nuvem de poeira. Depois, do horizonte longínquo, veio um estrondo surdo e lá ao
51
fundo jorrou uma chama azul. De repente, as nuvens tiveram um sobressalto no céu e, com um trovão terrível, rasgaram-se em pedaços; pelos rasgões, iluminando as trevas, brilhou a flecha incandescente do raio que mergulhou para o solo e se extinguiu antes de o atingir.
Um murmúrio de revolta percorreu a estepe; progredia em vagas largas e sombrias e a floresta fazia-lhe eco. A chuva começou a cair em bátegas.
As flechas dos relâmpagos rasgavam as nuvens, mas elas voltavam a unir-se e avançavam por cima da estepe como rebanhos escuros portadores do pavor; de tempos a tempos, com um trovão-, algo de redondo como um sol, luz azul que cegava, abatia-se sobre a terra; as nuvens brilhavam, ameaçadoras, e tomavam o aspecto de um exército de espectros negros e terrificantes, vestidos de veludo e ouro, brandindo sabres forjados no ouro, ainda rubros do fogo da forja. Os espectros bramiam e ribombavam, ameaçando a estepe muda de pavor, as maldições, como uma vaga monstruosa e interminável que se alongava até às dimensões do mar, voavam ao longe, com as suas ameaças, ecoavam como se as montanhas explodissem de repente; recaíam com fragor sobre a terra, pulverizavam-na e erguiam-se com ela no espaço infinito, como uma pedra que fizesse voar em pedaços outra pedra; o fragor era como se o céu se tivesse esmagado nos cimos azulados da terra... Era o ruído que as nuvens faziam!
O coração é preso de pavor nesses curtos instantes de espera que dividem em trovões o rumor indistinto da tempestade; rebentam e as nuvens rasgam-se lançando para a terra as flechas de ouro dos relâmpagos. A trovoada rola, as nuvens incendeiam-se, a sua chama é azul e terrificante, e o deserto dos céus estremece; a terra amedrontada é percorrida por arrepios. Não há no mundo fenómeno mais possante, mais terrífico que a tempestade na vasta estepe e o desencadeamento da tempestade no mar.
A estepe calava-se timidamente, estranhamente, e por cima dela continuavam a rolar os terríveis trovões; quando as nuvens se tornavam mais negras, cintilavam como aço
52
os fios ténues da chuva. Ela caía sem tréguas e dir-se-ia, ao ouvir-lhe o ruído monótono, o lamento de um aflito.
Firme como uma rocha, o pastor, de pé, oferecia o peito à chuva e às rajadas, e os relâmpagos que riscavam o céu davam a impressão de não se arriscarem a atingi-lo, como se temessem, tocando-lhe o peito bronzeado, desagregarem-se numa chuva de fogo. Ele olhava para as nuvens com um sorriso, admirando-lhes a beleza sombria e a força; nos olhos negros brilhava um reflexo de inveja, um brilho tão vivo como o dos próprios relâmpagos. Esqueceu tudo: Maía, estendida no chão, apertando-lhe as pernas com os braços finos e escondendo nele a cabeça delicada, a estepe, ele próprio... Teria querido voar também entre as nuvens e cantar com elas as suas mais sonoras canções.
A tempestade já não uivava sem descanso como ainda há pouco; detinha-se um minuto, depois dois, depois três. Como que a examinar o audacioso que se mantinha sòzinho diante dela, ribombava surdamente; não compreendia decerto muito bem por que razão ele continuava ali, nem o que esperava na estepe deserta, sob a chuva. Quando se calava um momento, sacudia novamente as nuvens e brincava com os raios, lançando-os sobre a terra como uma saraivada; os fios da chuva desciam sem cessar e sem cessar brilhavam no fogo dos relâmpagos: tinham o aspecto de uma rede de finos fios de aço que a tempestade lançava para a terra a fim de que esta se emaranhasse: então, a tempestade levá-la-ia para o país onde habita com a Noite, onde está sempre escuro, e para onde já levou muitas outras bolas como a terra, com as quais brinca quando se aborrece e não pode sair.
Na estepe estava frio, escuro, tenebroso. Quando os relâmpagos lhe passavam por cima dir-se-ia que um pesado suspiro lhe erguia o largo peito petrificado pelo pavor. Quando os relâmpagos a atingiam, ela abatia-se num gemido, esmagada pelas trevas, sob os lamentos monótonos da chuva.
Em pé, o pastor cantava; no coração continuava a arder aquele ardor intrépido que o tornava capaz de oferecer, sozinho, o peito à força da borrasca e não a
53
temer. Não cessava de cantar; mas quando subitamente todas as nuvens rebentaram ao mesmo tempo com um clarão azul dilacerante, ele baixou involuntariamente os olhos para o chão e viu a seus pés Maía, de quem se tinha esquecido. Ela estava deitada, encharcada sobre a terra inundada, e o delicado rosto estava azul e morto, os olhos fechados, os lábios cor-de-rosa cerrados e violáceos.
- Morta! - exclamou ele, espantado. - Que aconteceu?- Inclinou-se, tomou-a nos braços, apertou-a contra si. Ela estava tão miserável! Duas lágrimas tinham petrificado ao canto dos olhos. Pequena, frágil, com a cabeça caída para trás, os braços pendiam lamentáveis e impotentes,
- Maía, Maía, estás morta? - perguntou ele com ternura, sentindo o coração dilacerado sob uma dor aguda, insuportável. Nunca tinha sentido uma dor semelhante, mesmo no dia em que tinha caído e partido um braço. Aquela dor era a piedade.
Soltou um gemido horrível como um soluço e, em resposta, a tempestade ribombou, mesmo por cima dele, como uma gargalhada selvagem e irónica.
O pastor estremeceu, baixou-se; olhou à sua volta procurando onde abrigar da tempestade a pequena Maía. Pela primeira vez na sua vida lamentou não possuir uma cabana. A pena transformou-se em terror: teve medo por ela. Então elevou Maía nos braços, por cima da cabeça, com uma angústia tal que lhe parecia sentir, no peito, um sangue ardente jorrar das feridas do coração. Aterrorizado, angustiado, gritou com todas as suas forças:
- Piedade!
A tempestade ria, as nuvens passavam, a chuva continuava a cair e a chorar, a estepe estremecia e, lá ao fundo, longe, a floresta soluçava lugubremente. Mas do lado de onde vinham as nuvens, as trevas faziam-se lívidas e, por momentos, brilhava entre elas o sorriso azul e fagueiro do céu.
Erecto, o pastor mantinha a fada bem alto, por cima da sua cabeça, e ele próprio olhava tristemente para as alturas onde as nuvens corriam sem se preocuparem com
54
o pastor ou com Maía. Tinham vindo por que tinham vindo e partiam porque era tempo de partir. Se o tivessem matado tê-lo-iam matado, mas isso não tinha acontecido: não se preocupavam, muito simplesmente, com qualquer daqueles dois. Talvez as nuvens desejassem efectivamente qualquer coisa, mas não uma tão pequena coisa como o pastor e a sua fada! Elas planam acima do solo e divertem-se à sua maneira.
E de súbito brilhou ao longe o sol, num canto do céu, limpo de nuvens: já se alongava lá adiante uma longa fita de céu puro.
O pastor, de pé, mantinha Maía erguida para o céu e perguntava a si mesmo, com angústia, se o sol brilharia depressa sobre as suas cabeças; nem sequer pensava que podia ir ao seu encontro.
O sol brilhou porém, e os seus raios fizeram cintilar, nos caules dos espartos batidos pela chuva, diamantes e safiras; esses raios tocaram também o rosto e o peito de Maía... Do lado para onde as nuvens tinham partido a tempestade prosseguia com os seus trovões.
Então a fada soltou um suspiro e gemeu suavemente:
- Oh! Mamã! Mamã!
O pastor apertou-a contra o peito e sentiu-se alegre.
- Estás viva! Oh!, como sou feliz! Pensava que a tempestade te tinha matado.
- Quero ir para a floresta. Aqui, tenho medo - disse Maía baixinho.
- Mas a tempestade já foi embora! - exclamou o pastor.
- Voltará! Leva-me para a floresta!
- Como poderia levar-te para lá? Eu não irei. Que há na floresta? Apenas árvores... e mais nada.
- Leva-me para lá, depressa! - insistiu a fada.
- E eu, ficarei aqui sozinho? -perguntou o pastor, pensativo. Havia qualquer coisa que não estava bem... Era o ficar só? Sempre tinha estado só. E a estepe estava tão próxima e tão familiar! Por que não tinha então vontade de a levar para a floresta? Não sentia essa vontade, absolutamente.
55
- Sabes, - disse ele - parece-me que se te levasse para lá, ficaria como que cortado em dois, e cada uma das metades iria para seu lado: uma para a estepe, a outra para a floresta. Vale mais não fazer isso, que te parece?
- Mas aqui tenho medo, quero voltar para a floresta! Também eu me aborreceria sem ti... Pensas que não? Oh! sim, aborrecer-me-ia muito... Mas quero ir para lá. Aqui, tenho medo. Que tempestade!...
- Mas como vamos fazer, então! Não serás feliz sem mim, nem eu sem ti... Então fica comigo! Que te importa a tempestade? Quando ela vier começarei a cantar e cantarei todo o tempo em que ela esteja na estepe!
- Como podes adaptar-te à tempestade? Ela levar-te-á, e a mim também, e atirará connosco para tão longe que voaremos até ao mar.
- Até ao mar, não é muito longe - respondeu o pastor, pensativo. - Mas como poderia eu levar-te para a floresta, se não sinto vontade de o fazer?... Ha!... Além disso, aqui, dei-te a felicidade e tu deste-ma também, ao passo que na floresta... Diz-me o que vês ali, que valha a pena!
Então Maía ficou pensativa e, depois de alguns instantes de silêncio, disse tristemente:
- É verdade, a felicidade está aqui! Mas... é tão pouco! Já da primeira vez te queria dizer isso: a felicidade não reside talvez senão na espera. É essa a felicidade.
Depois desta conversa sentiram-se tristes; mas acima deles o céu, refrescado pela tempestade, tinha um sorriso acariciador e terno. O pastor contemplou-o, depois olhou à sua volta sem encontrar em parte alguma resposta para os seus pensamentos.
- Seja, levar-te-ei até à orla da floresta. Conduziu-a em silêncio. Não olhava, como antes, os
olhos dela, mas sim a terra escura, ensopada de água; Maia também se mantinha calada, nos braços dele. Havia em ambos algo de novo que não conseguiam compreender muito bem, mas que os impedia de se beijarem tão alegremente como o faziam antes.
56
- Adeus!... Quando virás ter comigo? - perguntou-lhe ele ao depô-la no solo, no limite da floresta, sob os ramos perlados de gotas de chuva como pedras preciosas que brilhavam sob o sol e repousavam em silêncio da tempestade.
- Quando voltarei? Não sei... Quando tiver vontade, antes não! - respondeu Maía.
- Então dá-me um beijo de despedida.
Ela apertou-o com muita, muita força, e deu-lhe um beijo, um beijo amargo de dúvida, depois entrou na floresta sem lhe lançar um único olhar. Dos ramos ainda emocionados caíam sobre ela grossas gotas frias que a gelavam. A floresta mantinha-se num silêncio aborrecido e concentrado. O caminho tinha-se tornado mais espesso, mas menos belo do que antes e as flores não eram tão belas, além de haver menos... Tudo era estranho, diferente, como se Maía tivesse agora novos olhos.
Mas na estepe quanto espaço, quanta luz! Ele está por certo sentado sob os ramos de um choupo e medita, com o olhar longínquo, a cabeça entre as mãos. Senta-se assim muitas vezes, a meditar. Muitas vezes, quando adormecia nos braços dele e ele cessava de a embalar com as suas canções, ela contemplava-o através da sonolência e, embora lhe parecesse que o coração dele estava longe dela, era-lhe agradável mergulhar o olhar naqueles olhos ardentes!... Agora caminhava. Os ramos das árvores afloravam-lhe com precaução os ombros e os braços, como se pretendessem murmurar-lhe qualquer coisa; mas ela não sentia nada, a não ser que o desgosto lhe enchia o coração...
No meio do caminho ergue-se, real e majestoso, um lírio; pesada com a chuva, a sua corola balouça-se, quem saberá porquê, tristemente... Tão branco, tão puro, tão fresco! E parece tão orgulhoso!
Maia pôs o pé em cima, o caule quebrou com um ruído de lamento... Ei-lo, esse lis tão puro, que jaz na lama todo amachucado! Maía olhou-o e sentiu pena e vergonha.
- Acabo de fazer como esse horroroso Destino de que ele me contou a história na estepe! Aqui está o palácio
57
da minha mãe. - Era tão belo como antes mas havia nele qualquer coisa de triste.
- Mamã! - exclamou Maía, soluçando. Fixava os degraus do portal coberto com a verdura das heras, no meio das quais brilhavam com vivas cintilações os jasmins brancos e perfumados e as azáleas amarelas que exalavam um aroma espesso nas janelas abertas. Numa delas, atrás das flores, as irmãs olhavam Maía, em baixo, com rostos severos e tristes embora elas se parecessem também com corolas de túlipas brancas.
- A mamã? - perguntou Maía através das lágrimas sem subir os degraus.
A floresta repetiu num eco, triste, aquele "Mamã", mas as irmãs abanaram a cabeça, igualmente tristes e severas e as árvores abanaram também as suas copas; dos olhos delas começaram a cair grossas lágrimas.
- Tu mataste-la! - disse a irmã mais velha.
- Já não és nossa irmã - acrescentaram as outras duas.
Maía olhou-as com o coração gelado... A mãe tinha morrido!... Morta?
A fadazinha inclinou a cabeça para o peito; pareceu-lhe que uma serpente a tinha mordido no coração... "Mas, vejamos, a mamã era muito velha; morreu porque eu não a ouvi, ou porque a hora de morrer tinha chegado para ela? As minhas irmãs não podem conhecer a verdade!" Por que lhe falam então tão severamente e porquê, agora, a escarnecem, lá em cima, entre as flores? Será porque lhe disseram tudo e se sentem aliviadas? Que mal lhes tinha ela feito? Não sente pena delas, porque a feriram, e a floresta já não lhe agrada.
Maía atravessou novamente a floresta até à sua faia preferida, e trepou para a folhagem espessa e odorosa lavada pela chuva. Olhou para o céu; já se iluminavam as estrelas, ainda pequenas e suaves, que brilhavam tristemente. O céu estava melancólico e a ela parecia que a floresta mantinha um silêncio de reprovação, severo e zangado. Estava sozinha e começou a chorar.
As lágrimas caíam-lhe dos olhos sobre uma folha da faia, depois sobre outra, uma terceira, e finalmente na
58
terra; quando, na manhã seguinte, ela acordou, sob a faia, entre as ervas, tinham nascido algumas flores, minúsculas chagas, e da estepe vinha uma canção que se espalhava pela floresta:
Ho, ho! Por que não estás comigo? Há quanto tempo brilha o sol! Mas hoje o seu calor é frio e o meu coração dorme no peito.
Algo me estrangula o canto Eho! É infeliz quem espera. Hohé! Gostaria de saber Voar nos céus sem nuvens: Iria roubar à tempestade Os seus relâmpagos ardentes e forjaria uma coroa para aquela que eu beijava.
"Como ele canta! Como a sua voz é triste, hoje! vou-lhe responder." Pensou um pouco e pôs-se a cantar:
A floresta, triste, cobre-se de silêncio e de escuridão Só a folhagem do arvoredo Sussurra amavelmente.
Mas entre os ramos escuros, Como um rasgão entre as nuvens, um raio de sol luziu num regato escondido na sombra.
O raio anima-se, brilha,
o regato fragmenta-se
em reflexos de cores,
como se um encantador gnomo
abrindo a palma generosa
semeasse pedras preciosas
sobre o espelho das águas.
59
- Eho! - respondeu alegremente uma voz na estepe
com os fios da tua canção vou engalanar o meu peito. O sol brilha mais luminoso quando ouve as nossas canções. O meu desejo apanha os sulcos das tuas canções maravilhosas. A vasta estepe parece estreita! É assim que te amo.
E ela prosseguiu:
Aspiro os odores das simples flores e vou-me apressar para te abraçar. O que todas querem e nisso não me ferem é que fuja daqui para o amor, para ti.
Dois minutos depois já ela estava na orla do bosque.
Ele correu ao encontro dela e pareceu-lhes que com o seu beijo todo o céu se iluminava com uma terna e clara chama rosa. Como era bom!
Recomeçaram a viver. Dia após dia, a vida corria, e quando se habituaram um ao outro começaram a aborrecer-se. O pastor tinha vontade de ir para um lado, depois para outro, e Maía sofria com aqueles passeios incessantes porque os pés delicados não os suportavam.
E um belo dia alongou-se entre eles uma sombra, sem que a apercebessem. Todos sabemos como isso se passa, e discursos mais longos seriam inúteis.
Um dia estavam em silêncio, sentados lado a lado. O dia era tão vivo, tão jovem, tão forte! Era um dia maravilhoso da estepe. Sentiam-se tristes. Maía olhou os olhos do pastor e viu que estavam sombrios; as sobrancelhas negras, por cima deles, franziam-se com severidade.
60
- Não me dizes o que pensas? - perguntou ela meigamente, pondo-se a brincar com os anéis do cabelo dele.
- Que te poderia dizer? - respondeu ele encolhendo os ombros. - Que me sinto atraído para além, para aquele ponto longínquo, enevoado e macio, lá ao fundo, ali onde se vêem os raios do sol caírem sobre a terra em fitas largas... Era isso que eu te poderia dizer, mas eu
sei que não irás comigo para tão longe; os teus pés não suportariam a caminhada. E sem ti, como poderia eu ir?
Calou-se, e Maía também se calava, com a cabeça baixa e triste... Entretanto a estepe falava com mil vozes ao mesmo tempo.
Ele olhou-a com ternura.
- Quando não te via não havia tristeza em mim. Nesse tempo era livre, não desejava nada, não tinha pena de ninguém. Eram bons tempos. Vivia e cantava! Corria pela estepe, de uma ponta a outra, e à noite olhava para o céu perguntando a mim mesmo quem poderia ter necessidade de tantas estrelas, ou então o que haveria lá no alto, por detrás do céu. Os meus desejos, então, eram saber tudo e tudo fazer. Mas agora, depois que estás comigo, já não me é possível viver como desejaria, como vivia dantes, porque partir sozinho seria causar-te um desgosto, e eu amo-te e tenho pena de ti. És tão bela e tão jovem! E quando se ama e se tem pena, e se deseja ou se teme qualquer coisa, então já não se é livre!... Era isso que te queria dizer. E sofro porque tudo isso é verdade.
O pastor calou-se, com os olhos no longe, abanando melancolicamente a cabeça.
O coração de Maía ficou gelado com aquele discurso e os olhos encheram-se de lágrimas.
- Dizes a verdade, eu também a direi. Vivia mal, eu, quando só conhecia a floresta? Oh, não! Foste tu, recordas-te, que me atraíste com os teus cantos, que me pediste para sair da floresta. Concordei, porque pensei que estaria melhor aqui, contigo. Perdi assim a minha mãe, as minhas irmãs, a minha casa, tudo! Troquei tudo isso contra quê? Diz-me. Não foi por esses minutos em que
61
os beijos se tornam tão ardentes que chegam a doer? Se é esse o preço, é pagar bem caro... E tudo o que soube de ti, seria melhor não o ter sabido, porque tudo isso faz pensar!... Falaste-me do destino e da morte... Mas que há neles de bom? Se não soubesse que existiam, seria mais alegre, porque saber pensar não torna a vida melhor... Pronto, também eu te disse algumas palavras, e talvez te dissesse mais se pudesse arrancar o meu coração e levá-lo nas mãos até aos teus olhos: poderias ver o que há nele. És inteligente, diz-me então por que tudo isto evolucionou deste modo.
Ele fazia a si mesmo idêntica pergunta. Sim, porquê, na realidade? Tinham ambos recebido tanto como tinham dado?
À primeira pergunta nem o pastor, nem a estepe, nem o céu que ele contemplava tristemente, respondiam. Quanto à segunda, Maia e ele próprio já tinham respondido.
- Oh!, como esses dois são belos, calmos e fortes: a estepe infindável e o céu sem fundo. Não há sábio que possa dizer porquê, minha pombinha: esse sábio não existe, segundo penso. Mas se examinarmos as coisas de mais perto, talvez haja afinal muitas coisas que não existem. Somos culpados, um perante o outro? Não creio!... Aperta-te então contra o meu peito, abraçar-te-ei e beijar-te-ei...
Maía olhou-o. Antes era belo, forte e audacioso, com uma fronte pura e olhos de fogo! Agora ainda era belo, um pouco mais magro, pensativo. O olhar tinha-se-lhe tornado profundo como o céu. Estreitou-o e, apoiando- a cabeça contra o peito dele, disse:
- Canta-me uma das tuas canções antigas. Há muito tempo que as não cantas.
- Já não cantam dentro de mim; agora não posso cantar. Aparentemente, todas as minhas canções se gastaram!... Sabes, essas canções não eram minhas, eram de outros, tinham sido criadas por outros, toda a gente as cantava, eu ouvia-as e começava a cantá-las eu próprio... Talvez não sejam senão simples canções... E talvez
62
haja nelas, afinal, qualquer coisa de perigoso para o coração.
Falava abanando a cabeça tristemente; e ela chorava, porque agora, que lhe restava?
Viveram assim. Viveram assim e, olhando-se um ao outro, tornavam-se cada vez mais inúteis, aborreciam-se dia a dia mais e cada vez melhor compreendiam e viam o seu aborrecimento; e cada vez mais o pastor tinha vontade de partir para qualquer parte, longe, muito longe, onde não haveria nada que ele não soubesse ou de que não pudesse ter uma ideia; Maía definhava a olhos vistos, empalidecia cada vez mais e concentrava os seus pensamentos numa única interrogação constante: "Porquê? Porquê?"
Já se aproximava o Outono. As tempestades atravessavam a estepe com frequência crescente, o céu tornava-se cada dia mais sombrio; os dias eram mais curtos e as sombras da noite mais longas... Por momentos, Maia via entre elas os cabelos grisalhos da mãe que sacudia a cabeça com aflição e uma terrível angústia a brilhar-lhe nos olhos; a floresta dourava ao sol, vestindo a sua roupa púrpura e outonal.
O pastor estava sempre sentado ao lado de Maía, fixando no horizonte olhares ávidos e calava-se; por vezes estreitava de repente a pequena fada e beijava-a com tanta força que ela quase se abafava nos braços. E Maía definhava, definhava sem cessar.
Uma bela manhã - era já completamente uma manhã de Outono melancólico, quando as nuvens pairam baixas sobre a terra, pesadas e rabugentas; vão cair de um momento para o outro em cima da estepe e cobri-la com um edredon azul-escuro- Maía acordou e disse ao pastor:
- Meu querido, vou morrer!
Os olhos do pastor brilharam de desgosto e de alegria ao mesmo tempo e levantou-se:
- Oh! Não digas isso, minha pombinha! - disse ele em tom de alarme.
- Não, vou morrer, o Verão morreu e eu vou segui-lo. Leva-me para a floresta, depressa.
Ele pegou nela e levou-a.
63
A floresta estava sombria, escura; não murmurava como fazia no passado, de uma maneira doce e forte ao mesmo tempo; a folhagem, que dantes era de um verde-vivo, tinha-se coberto com as tintas vermelhas do Outono e uma grande parte das folhas tinha caído ao pé das árvores. Reinava o silêncio: o arvoredo erguia-se, taciturno; pensava e repensava no Verão. As nuvens, muito baixas, suspensas perto das copas das árvores, choravam não se sabia o quê, com uma fina e incessante chuva ainda estival.
Na orla, Maía mandou o pastor parar e disse:
- Pousa-me no chão.
Ele obedeceu e sentou-se a seu lado.
Uma rajada de vento acorreu da estepe e arrancou braçadas de folhas ao arvoredo: espalharam-se, largas e vermelhas por cima da cabeça de Maía e do pastor; as árvores pingavam - um ruído monótono - e não se podia discernir se era para desejar as boas-vindas a Maía ou se, pelo contrário, a censuravam.
- Adeus! - disse ela ao pastor - e também a ti, floresta, adeus! Adeus, sol, lá no alto, por cima das nuvens. E vós, nuvens, adeus! Dantes, assustava-me com as vossas audácias impetuosas mas agora sei que é o vento que vos conduz e que ele próprio é conduzido por qualquer outra coisa, e que o Destino reina sobre todas as coisas, e decerto também ele é escravo de alguém, talvez da Morte que me quer levar... E possivelmente também a própria Morte não é livre; ela nunca cruza os braços, não cessa de trabalhar, trabalhar... Porquê? Adeus, uma vez mais, meu audacioso, agora és outra vez livre como a águia; mas para que te servirá isso, já pensaste? Adeus! Seja eu espuma no mar, névoa azulada na montanha ou sombra da noite na estepe, sempre pensarei em ti. Adeus! Beija-me uma vez mais.
E enquanto a beijava, ela morreu.
Estava deitada sob as árvores que murmuravam um protesto abafado. Era tão pequena e tão calma, o rosto delicado tinha-se tornado mais pálido que um lírio... as nuvens desceram ainda mais sobre a estepe e sobre
64
a floresta, e choraram ainda mais... O pastor sentia o coração esmagado no peito encher-se de desespero até à borda.
Olhava-a. Já não era tão bela como o tinha sido em vida, mas era-lhe agora mais querida, e amava-a mais intensamente nesse momento de aflição. Sim, amava-a mais porque a tinha perdido... o coração sofria e chorava... O rancor ferveu nele como um jorro ardente.
Começou a cantar, possivelmente pela última vez.
Quem primeiro verteu o veneno do amor na taça da vida que beba por ela longamente, sem cessar, sem ter fim.
E se deseja a morte, que viva, que viva eternamente.
E através da floresta ressoou um eco sonoro:
"Que viva eternamente!"
Mas que canção era aquela? O pastor via já que não era uma canção, e teve um sentimento de remorso e vergonha.
Brandindo o comprido cajado por cima da cabeça, assobiou tristemente e partiu para longe ao encontro das nuvens; desapareceu.
A fada continuava no solo, na orla da floresta, e as folhas molhadas caíam, caíam... Pela tarde, um raio de sol deslizou entre as nuvens; não viu nada, na orla do arvoredo, a não ser um grande monte de folhas vermelhas e amareladas por cima do qual, no ramo negro e molhado de um carvalho, estava pousado um pica-pau que assobiava suavemente, tristemente. Então o raio de sol escondeu-se novamente, a obscuridade endureceu e a pequena e alegre fada ficou assim sob as folhas do Outono...
Eis tudo...
65
Nessa noite, na margem do Danúbio, sobre um carvalho musgoso, abatido pela tempestade, estavam sentados três gnomos sábios, e falavam da morte da alegre fada. Já sabiam que Maía estava morta, como sabiam tudo o que se passa em qualquer sítio do mundo e até sabem um pouco daquilo que pode acontecer amanhã. Falavam, e um deles disse estas palavras:
- Assim foi a vida da pequena Maía. Bem, ela recebeu tanto quanto podia receber, não tem de que se lamentar.
- Parece que se chama ao amor "prazer", apenas porque é uma dor muito forte; eu não sinto pena da fada, como não tenho pena de ninguém, porque tudo é estúpido- disse, após alguns minutos de silêncio, um outro que era ainda mais sábio do que o primeiro.
Quanto ao terceiro, apanhando com as mãos algumas pedras, lançava-as pensativamente na água do rio; olhava, sorrindo, os círculos que se alargavam até desaparecer, apagados pela corrente. Não disse nada, nem uma palavra, embora pensasse tanto como os seus camaradas e tivesse a fronte sulcada por rugas ainda mais numerosas. Manteve-se calado.
Era ele o mais sábio.
E pronto: contei a minha história. É certo que não é nova, e talvez a vida a tenha escrito há muito no teu coração. Mas diz-se que não há nada no mundo que não tenha já sido...
... E eu tinha tanta vontade de a contar!
66
RELATÓRIO DOS FACTOS E PENSAMENTOS CUJA ACÇÃO RECÍPROCA SECOU OS MELHORES PEDAÇOS DO MEU CORAÇÃO
Adélia! Por que interpretas tão mal as minhas palavras? (De um romance alemão)
E comendo, comi mel, pouco, e por isso - morro.
(Vidas, II)
5 de Abril de 1893
RELATÓRIO
No ano de 1888, no décimo quarto dia do mês de Março, às duas horas da manhã, a natureza, em conformidade com o amor pelas partidas de mau gosto que a caracteriza, e a fim de aumentar a soma total das inépcias que criou em diversas épocas, deu uma larga pincelada objectiva e eu nasci.
Não recordo, pessoalmente, esse pormenor, apesar da sua importância, mas minha avó contou-me que comecei a gritar logo que tomei figura humana.
Estou em crer que era um grito de indignação e de protesto.
Primeira impressão na minha memória:
Por uma rua estreita e com pouca luz, entre casas enormes de um vermelho sujo que não são cobertas pelo
67
céu mas sim por uma velha colcha de algodão cinzento através da qual a água escorre, caindo no chão em gotas finas e geladas, avança um cortejo fúnebre. Meu pai vai ser enterrado. Estou sentado nos joelhos da avó. Ela está sentada numa caleche e a caleche mergulha na lama até aos eixos; salpicos de lama saltam das rodas para todos os lados. Sigo-as com os olhos e penso no meu pai.
Era um homem alto, com olhos cinzentos, grandes e profundos, uma voz macia, bem timbrada, e é tudo. De resto, ele chamava-me macaquinho e eu chamava-lhe papá; decerto isso era um direito nosso, mas não tinha nada de original e não desperta em mim qualquer emoção.
Entrámos no lamaçal que é também o cemitério. O caixão é transportado por alguns homens e pousam-no ao lado de uma fossa meio cheia de água. Os popes
- são dois, um grande, com tanto pêlo que só se lhe distinguem, no rosto, o nariz, vermelho e pontiagudo, e terríveis olhos sombrios; o outro, pequeno, com voz esganiçada- cantam um pouco e descem o meu pai para a cova, de onde salta um regimento de rãs assustadas. Nesse momento tive medo e comecei a chorar; minha mãe aproximou-se. Tinha um rosto severo, irritado: as minhas lágrimas aumentaram. A avó deu-me um biscoito e a minha mãe afastou-se, com um gesto de impaciência, sem dizer uma palavra. Quanto ao meu pai é tudo.- É pouco.
Eu, certamente, deixarei algo mais aos meus filhos; em todo o caso, não me terei esquecido de lhes pedir desculpa pela obrigação de existirem em que, por minha culpa, os coloquei (por metade, pelo menos).
É a obrigação de qualquer pai que se preza, a sua mais elementar obrigação.
Segunda impressão: um vapor. Ruído abafado. Um quarto. Diante das janelas corre, não se sabe para onde, coberta de espuma, muita, muita água. Estou sentado junto de uma vigia, redonda como um bolo, e olho: além de mim, há no aposento um pequeno caixão, colocado em cima da mesa, e, ao centro, a minha mãe e a minha avó. Sei que no caixão está o meu irmão Máximo, nascido
68
no dia da morte do meu pai e falecido oito dias depois. A maneira como ele se comportou naquela ocorrência demonstra que era possuidor de uma inteligência pouco comum e muito penetrante. A água começa agora a correr mais lentamente, mais calmamente diante das janelas; por cima, o ruído aumenta, ouvem-se passos pesados e um homem, todo vestido de azul, entra no quarto; tem na mão uma boina branca, com fitas, e o rosto, grande e assustador, está barrado com um risco vermelho que lhe corta em diagonal, da esquerda para a direita, a fronte e a face.
- Posso levá-lo? - perguntou.
Choro, porque não quero que o homem azul leve ninguém, mas ele aproxima-se da mesa e, pegando no meu irmão debaixo do braço, leva-o, fazendo o sinal da cruz. A cara da minha mãe ficou vermelha, a avó tirou não sei de onde um lenço vermelho, tapou os olhos com ele, resmungou qualquer coisa com voz colérica, depois tudo se desmoronou e eu também...
Um quartinho de águas-furtadas. Está um tempo claro, morno e triste. Estou sentado numa cadeira, diante de mim há um grosso volume com letras grandes, muito estranhas; na minha frente, o rosto ruivo e maldoso do meu avô. Pergunto-lhe:
- Quem é o homem feliz que não toma o conselho dos ímpios? Não é o tio Tiago?
- Que imbecil! - disse o avô. Mas não explicou quem era o imbecil: o homem feliz ou o tio Tiago?
- Estúpido! - disse novamente o avô e a barba estremeceu-lhe. O estúpido, esse era eu: portanto o imbecil também era eu. Uma tal constatação não me vexa de modo algum, e, soletrando a cantarolar: "Não te metas no caminho do pecado!", raspo com a unha pequenas gotas de cera nas páginas do livro. A porta abre-se e a avó entra na sala.
- Pai -diz ela-, há um general estrangeiro que chegou e te quer falar.
- Falar de quê? - O avô levanta-se lentamente, fixando de uma maneira cómica a porta onde se mantém
69
um homem de grande estatura, com um tricórnio doirado, um curto dólman vermelho ornado com botões enormes, igualmente vermelhos, meias acima do joelho e sapatos com bonitas fivelas. No rosto terrível e severo, um nariz longo, vermelho, recurvado para baixo, com uma verruga na ponta.
- Bom dia, Vocelência! Sente-se, peço-lhe! O avô, pálido, corre e treme de uma maneira ridícula através do quarto. O general ri. A avó também. O avô aperta os olhos enrugados; eu reconheço a minha mãe. Sinto-me desgostoso e assustado. Grito:
- Mamã! Tire isso tudo! - Ela ri ainda mais alto e de repente diz com voz ameaçadora:
- Se não deixas a vadiagem e não aprendes bem as lições, meto-te no regimento, e vais carregar os canhões e sentar-te em cima quando eles dispararem.
Tenho medo daqueles malditos canhões! Quando disparam, no campo, os vidros estremecem de pavor e parece-me que, se disparam mais uma vez, fenderão a terra, e a nossa casa vai desmoronar-se.
Apesar de tudo, sinto-me vexado que a minha mãe, sempre tão séria e tão bela, esteja agora tão feia e ridícula. Já não há nada nela que me assuste e há tantas coisas que me desagradam!... E ainda por cima todos aqueles botões, nunca vi botões tão feios e tão grandes.
- Tire isso, mamã, não lhe fica bem! - pedi-lhe eu.
- Tolinho! - disse ela, rindo. - É festa, e mascarei-me assim, mas amanhã já estarei como sempre.
Mas eu quero que ela fique imediatamente tal como é todos os dias; grito-lhe outra vez, mas agora com raiva, que se dispa. Ela ri novamente e então dou um pulo, agarro-lhe um botão do dólman e arranco-o, gritando e chorando, com cólera.
- Então, meu papagaio! - Uma primeira bofetada não me acalma, mas, após várias, acabo encolhido num canto onde fico sozinho, porque todos saem, apagando o fogo e fechando a porta por fora. Está escuro, tenho medo. Deixo de chorar e ponho-me a ouvir os barulhos que vêm de fora: danças, músicas e risos. Diante dos meus olhos
70
flutua algo de negro, de enorme, e nas paredes saltam minúsculas faíscas douradas que se acendem e apagam à vez. Depois adormeço.
Aqui, lembro-me de um sonho, um desses belos sonhos que são uma carícia para o coração, e que ninguém esquece mais. Possivelmente, faria melhor em o descrever com pontos de exclamação e não com palavras, mas tenho o meu objectivo - um pouco estranho, um pouco fantástico, talvez impossível de atingir - para falar com mais simplicidade, um objectivo imaginado por um louco e um doente; seja assim, se quiserem, mas a verdade é que esse objectivo exclui qualquer possibilidade de ser silenciado.
Está uma janela aberta: do jardim jorram para o quarto, numa onda incessante, o murmúrio e o perfume dos lilases e das macieiras. Estou deitado na minha cama e esforço-me por contar quantas estrelas existem na nesga de céu que se enquadra na janela. É pequena, mas bordada com estrelas tão densas que constantemente me perco na conta.
- Porque não dormes? - perguntou a minha mãe. Está sentada a meu lado e levanta-se com frequência para ir olhar pela janela, em baixo, no jardim.
Respondo: - Porque não quero.
- Dorme, dorme! Que significa esse não quero? comenta ela, descontente.
Mas eu quero beijá-la, e declaro-o bem alto... Hoje, agrada-me, amo-a com um amor puro e forte sem esse temor e essa perturbação que estão sempre misturados àquilo que sinto quando me aproximo dela. Beija-me distraidamente e repete: - Dorme, dorme!
Mas aquele beijo desagrada-me e, depois de um momento de silêncio, começo a cantar.
- Dorme! - grita-me a mãe. Calo-me. Sinto-me triste e tenho vontade de ser maltratado. - Dorme, já te disse!
- Canto apesar de tudo, e consigo os meus fins: maltrata-me. É muito doce e muito amargo; no meio dos meus soluços, começo a cair na sonolência, sinto o beijo quente da minha mãe; sorrio e vejo um sonho.
71
No quarto, o luar projecta muita luz e vejo atrás das cortinas da minha cama alguém grande, com um rosto pálido, com grandes bigodes negros; cabelos compridos caem-lhe para a testa e as faces; ele beija e acaricia a minha mãe, enlaça-lhe a cinta com um braço e com o outro aperta-lhe a cabeça contra o peito e afaga-lhe os cabelos. Minha mãe tem o rosto levantado e contempla-o nos olhos. É tão bela, tão boa, tão meiga, agora: vejo que é feliz e fico contente, não só porque ninguém a ama, em casa, a não ser a avó, como também porque me amará mais agora que ela sabe como é bom quando se é acariciado.
- Esperava-te, esperava-te - disse ela, baixinho, mas nitidamente. - E em mim era mais o ser humano que te esperava, do que a mulher. Esta casa é insuportável, sinto-me oprimida, todos me odeiam excepto a avó, e ela própria teme amimar-me abertamente: sinto-me abandonada, sozinha, mas não cedo uma polegada. Não me quero submeter e...
- Não falemos mais disso. Falta pouco para que tudo acabe. Tem paciência, e por agora beija-me! - disse o homem dos bigodes negros. Fala de um modo inegavelmente acariciador e os olhos brilham com uma bondade que parece excessiva.
Também eu quero que ele me afague e por isso digo:
- Mamã, quero que ele me beije, ao menos uma vez. Ambos se sobressaltam e dão um passo na minha direcção.
- Não dormes? - pergunta a minha mãe. - Que quer dizer isso? É preciso dormir! - Sorri e passa a mão trémula na minha cabeça.
- Já estou a dormir há muito tempo - respondo para a acalmar. - E este senhor é muito bom, mamã - digo eu, seguro, olhando o homem que me examina com um sorriso pensativo.
- Gostas de mim, meu rapazinho? Gostaria de poder conhecer-te melhor - disse ele, pegando em mim ao colo; beijou-me uma vez, duas vezes, e levou-me até à janela.
- Venha cá todas as noites. Uma vez que é um sonho, só vive de noite. - Minha mãe e ele riam suavemente.
72
- Tem cuidado, vais-te constipar - disse a mãe.
- Não, não faz mal. Dá-me a coberta. - Envolvem-me na coberta macia e quente, e, deitado nos braços do senhor de bigodes escuros, ouço-o falar-me de si e de outros sonhos igualmente belos que vivem longe, onde o céu abraça a terra.
Olho para ele, para a minha mãe, e penetram-me os sons maviosos e acariciadores do conto ao mesmo tempo que os perfumes do jardim; adormeço ou mergulho em qualquer coisa, envolvem-me algures.
De manhã, ao acordar, vejo a minha mãe: está sentada a meu lado, calma e serena como habitualmente. Estou deitado, olho-a e recordo o meu sonho.
- Já estás acordado? - pergunta-me. - Abano a cabeça afirmativamente, com desgosto. - Conta-me o que viste em sonho - pergunta ela, olhando-me atentamente, severamente, nos olhos. Eu conto.
- bom, esse sonho não se deve contar a ninguém, nem mesmo à avó; a ninguém. Esses sonhos são um pecado.
Pergunto porque é um pecado. Dá-me uma explicação longa e aborrecida. E eu, sem compreender nada, visto-me...
Coberto de crostas da varíola, estou deitado na cama, olho-me a mim mesmo no espelho, à minha frente. A máscara repugnante, purulenta que me cobre o rosto mergulha-me no abatimento, sinto-me aniquilado. Para não me poder coçar ligaram-me as mãos e os pés às grades de madeira da cama. Aparte a avó, ninguém me vem ver, com medo do contágio, e fico deitado sozinho dias inteiros, abatido pelo aspecto abominável da minha cara. Tinha então sete anos e, parece-me, ainda não sabia pensar, mas já sentia.
A avó não vem, apesar de já serem horas de acender o fogo. Imagino onde está ela agora e o que faz. De repente parece-me que está deitada atrás da porta, na entrada, em camisa, com a garganta aberta, como a galinha degolada um dia por Roman, o nosso porteiro. Cheio de
73
pavor agito-me, destruo os laços que me prendem à cama, precipito-me para a janela, quebro-a, salto e caio em cima de um monte de neve macia.
Estou de cama, doente: tenho os pés gelados por ter ficado tempo demais na neve. A avó vem-me ver ao quarto. Tem um embrulho nos braços: alguma coisa que se mexe e geme. Pergunto:
- Que é isso?
- Foi Deus que te mandou um irmãozinho - diz a avó, mostrando-me no embrulho um bebé violáceo e avermelhado, todo cheio de rugas e cómico.
- Foi a mamã que o pôs no mundo?
- Claro, não foi o teu avô!
Tudo aquilo não me desperta uma grande curiosidade e mantenho-me deitado, em silêncio.
Entra no quarto o avô e senta-se na minha cama, com um suspiro.
- Bem, bem, já acabou. Deus seja louvado! - diz, com um riso mau.
- Deixa lá, pai, grão trazido pelo vento dá plantas vigorosas - diz a avó com voz suave; aproximando-se dele exibe a criança.
- Desaparece da minha vista, velha bruxa! És tu a culpada, só tu! Não podias vigiar a tua filha, feiticeira?
O avô troveja, a barba ruiva estremece, o rosto toma uma expressão terrível, bate na avó e com uma bofetada faz-lhe cair a touca.
- Pai! Que bicho te mordeu? Perdeste a cabeça? diz ela recuando, espavorida.
- Vou-te matar. Fora da minha vista!
As pancadas chovem na cabeça e nas costas da avó; ela recua até à porta, roda sobre si própria, sem defesa e esforça-se por proteger a criança dos punhos do avô que guincha: "Toma para ti! Toma para ti!" Estou assustado e indignado; também eu grito a plenos pulmões. Por fim a avó consegue escapar para lá da porta e o avô, suspirando com abandono, apoia-se ao fogão e limpa a testa do suor do seu trabalho.
74
- Que tens tu, para estar aí a gritar? Cala-te! - diz ele, levantando a mão ameaçadoramente. Mas sinto um afluxo de "pavor e de bravura ao mesmo tempo" e não me calo.
- Cala-te, já disse! - repete o avô. Inclina-se para mim, rangendo os dentes, mas eu grito-lhe com toda a força, frente a frente:
- Malando, ruivo malandro!
- Ah! Ah! Patife! És o retrato chapado do teu pai! diz ele; depois de me dar um soco na testa foge, gemendo: - Monstros! Carrascos!
Fico muito contente por ser o vivo retrato do meu pai, embora me tenha ficado a doer a testa.
... É a primeira briga que me fica na memória; com ela começa uma longa série de batalhas cerradas, mais ou menos espectaculares que se produziam constantemente na nossa família. Os meus tios regressavam embriagados, quebravam os vidros... e a cabeça ao avô e à avó; também lhes batiam a eles, e conduziam-nos ao posto da polícia. Que sentimentos partilhava a minha família entre si, ignoro, mas esses encontros que no início me apavoravam, acabaram por fazer nascer também em mim inclinações guerreiras que me incitavam a tomar parte nas lutas, mas desapareciam logo que chegava o momento de participar activamente no combate; eram substituídas por um medo selvagem.
Mas uma vez não me aguentei.
Lembro esse momento com prazer e dato daí a história do desenvolvimento da minha independência e do meu respeito por mim próprio. Um dia, passeava no jardim, quando ouvi minha mãe soltar um gemido no quarto. Num instante pus-me a seu lado: estava em pé e, protegendo-se com a mesa e com um pesado cinzeiro na mão, dizia ao tio Miguel, também de pé, em frente dela:
- Vai-te embora, Miguel. És um cobarde, vai-te embora, senão racho-te a cabeça.
- Mentes! Não sairei sem te ter dado uma tareia! assobiou entre dentes o inimigo, e, contornando a mesa, avançou para ela. Ergueu a mão e, no mesmo instante, saltei, cerquei com os braços o pé do meu tio com um
75
deleite e um medo espantosos, e mergulhei-lhe energicamente os dentes no tornozelo.
Passou-se algo de terrível e de odioso.
A noite volto a mim roído de pancadas e enfraquecido. A mamã, a avó, o avô, todos riem com ternura e o tio Tiago diz, beijando-me:
- És um verdadeiro herói, garoto!
Sinto-me orgulhoso, feliz, beijo toda a gente, choro, e conto uma tolice qualquer que os faz rir ainda mais, no que não são merecedores de censura, porque desde os tempos mais recuados os homens louvam-se e estimam-se uns aos outros por aquilo que merece castigo. No dia seguinte, à tarde, já eu estava de pé e propus ao meu primo, que era mais velho do que eu, ir comigo bater um qualquer dos nossos pequenos camaradas de rua; e quando recusou, sabe-se lá porquê, uma proposta tão agradável, disse-lhe com desprezo:
- Não passas de um cagarola...
Sabes uma coisa? - disse-me um dia o meu primo, filho do tio Tiago - Na cave há muitos ovos pintados: vamos roubar alguns e depois, com o dinheiro da venda, compraremos chocolates e bombons.
Eu sentia um pouco de medo mas, pensando bem, resolvi-me à operação. Enfiei-me na cave com o primo, enchemos os bolsos e a camisa com ovos e trocámo-los nos vizinhos contra uma caixa inteira de bombons. Regalámo-nos toda a tarde a brincar fora de casa - deixavam-me ir para a rua raramente com medo das companhias nocivas à minha moralidade. - Mas à noite o avô mandou-nos chamar e perguntou com severidade:
- Vocês saberiam por acaso, rapazes, quem roubou ovos da cave?
- Não fomos nós! - respondeu com firmeza o meu primo, confirmando com essa resposta a justeza da regra: "Apressa-te lentamente".
- E eu que supunha terem sido vocês!-disse o avô.- bom, então não foram. - Voltou-se para mim com uma cara prometedora. Eu calava-me, não me sentia à
76
vontade. Tinha vergonha e medo. O avô, a avó, a mamã tinham todos um aspecto tão severo!
É a partir daí que me recordo de mim a reflectir e a mentir.
- Por que te calas, rapazinho? - perguntou o avô com um riso irónico.
- Não fui eu! - respondi, olhando-os a todos de frente, audaciosamente.
- Se calhar foste tu, fala francamente, não escondas nada, será pior - declarou o avô, com uma calma ameaçadora. Abano a cabeça negativamente.
- bom, então foste tu Alexandre; confessa já e fica o assunto arrumado.
O outro olhou-me, baixou os olhos e disse timidamente, com humildade:
- Perdão... Fomos nós...
- Ele está a mentir. Eu não lhes toquei! - declarei em voz alta, cheio de orgulho, de tranquilidade e de desprezo para com o meu primo a quem o meu olhar fuzilava.
- É verdade, Alexandre? - perguntou a minha mãe.- Conta-nos como as coisas se passaram.
Ele contou o que tinha acontecido, e aquilo pareceu-me uma cobarde traição da parte dele.
Gritei com frémito: - Ele mente, mente, mente! Não sei nada, nem quero saber.
- Jura-o, quero ver! - propôs o avô. Pessoalmente, nunca temi a Deus, isso recordo-me
bem. Tudo o que até então me tinham contado não me despertava qualquer simpatia. Diziam-me que Deus vivia no céu. Eu não podia compreender que alguém vivesse tão alto e sozinho. Diziam-me: - Ele governa a vida e todos os homens. - Mas na nossa casa era o avô que governava toda a gente, não era Deus; e o que se passava algures, para lá dos limites da nossa casa, era-me indiferente, porque não tinha com isso qualquer contacto. Diziam-me que Deus punha os homens no mundo, mas ouvia dizer, muito mais vezes, que eram as mulheres que se encarregavam disso. Era preciso rezar a Deus: eu rezava. Era preciso obedecer-lhe: eu temia muito o avô,
77
mas mesmo a ele lhe obedecia pouco. Então, Deus... Ele pode dar tudo. Mas eu não tinha necessidade de nada.
Por todos os motivos acima enunciados, pus-me de joelhos e neguei solenemente qualquer participação no roubo dos ovos.
- Muito bem! Alex, sabes o que te vou fazer, não é verdade? - disse o avô. - E tu, meu rapaz, vem ver para que te sirva o exemplo - acrescentou, para mim. Fui ver, para exemplo.
O meu primo despia-se com humildade e eu olhava para ele, indeciso entre o desprezo e a pena. Sentia-me gelado pela concentração e pela solenidade com que os adultos se preparavam para a execução.
E no entanto calava-me.
Chicoteavam o meu primo e ele gritava:
- Nunca mais torno! Nunca mais torno! - gritava alto, choramingando como um cobarde; eu tremia, sem saber porquê, e calava-me.
- Nunca mais tornas? Ah! Ah! E por que não confessaste logo que tinhas sido tu? - dizia calmamente e com maldade o avô, chicoteando-o cruelmente. - Por que acusaste o Alexis? (') Mentiroso nojento! Ele não estava contigo, confessa, não estava?
- Ai! Não estava, não estava, não estava! - gritava ele cada vez mais alto, gemendo.
- Ele está a mentir! - disse eu com voz forte, esforçando-me por falar com calma, mas trémulo de emoção.
- O quê? - admirou-se o avô, parando de bater.
- Ele mente! Eu estava com ele e também roubei! Todos se puseram a rir: supunham que me acusava apenas num impulso magnífico para salvar o meu primo. Mas provei-lhes que estava lá e o meu primo, com maldade, confirmou-o. Sentia-me contente por ter demonstrado a minha culpa, e sentia agora um prazer ilimitado em ser culpado.
- Então por que juraste? - perguntaram-me surpreendidos. - Por que mentiste?
78
Oh! Aquilo não o podia explicar!
- Porque sim! - respondi. De resto poderia explicar-lhes muito bem com quem tinha aprendido a mentir, mas isso não me perguntaram.
- Porque sim? bom! - e puseram-se então a chicotear-me "por mentira intempestiva". Eu gritava:
- Hei-de mentir sempre, hei-de mentir, hei-de mentir... Recebi uma severa punição.
Este pequeno acontecimento teve como consequência afastar-me para longe de tudo e todos, excepto da avó. A partir daquele momento começaram a não me prestar atenção, salvo a exclusivamente necessária para estarem certos de que eu não pregasse qualquer partida malévola. Eu levava a vida muito banal de uma criança da burguesia abastada. Ia passear para a rua e para o jardim, aprendi a ler no Livro de Horas e no Saltério, a escrever numa ardósia, etc. Detestava ir à igreja com o avô que, para me obrigar a cumprimentar, dava-me sempre grandes palmadas no pescoço que me ficava a doer.
Sentia muitas vezes uma sensação de aborrecimento, de frio e de humilhação. Nessas ocasiões ia para o jardim. Lá, atrás da barraca dos banhos, havia um fosso cheio de ervas daninhas; deixava-me escorregar até ao fundo, estendia-me e olhava para o céu: quanto mais atentamente se olha, mais profundo se torna, e isso despertava sempre em mim uma melancolia triste. Nesses momentos, a vida estava algures, longe de mim, os seus rumores mal me atingiam, no fundo do fosso, e, quando o vento soprava, as ervas na borda do fosso e no fundo, mexiam-se secamente, sinistramente. Estava estendido, e às vezes chorava sem saber muito claramente porquê, outras vezes cerrava os dentes e, retendo a respiração, escutava o murmúrio do arvoredo do jardim. Essa sensação de isolamento agradava-me: há nele algo que adula o amor-próprio e eleva o homem muito acima dos seus semelhantes. E sempre, após duas ou três horas de um tal isolamento, todos os elementos da minha família me pareciam bem piores que eu; e é preciso dizer que só naturezas raras, verdadeiramente nobres, são talvez capazes de não sentir o contentamento de si mesmas ao
79
contemplar os seus inferiores. Seria muita ingenuidade pensar que um tal sentimento seria demasiado complicado para a alma de uma criança.
Um belo dia, ao regressar de um passeio pelos campos com o avô, encontrei a minha mãe de braço dado com um homem alto: uma barbicha pontuda, grandes olhos cinzentos, um belo aspecto, uma voz suave e acariciadora. Apesar disso desagradou-me. A mãe olhou-me com ar severo e disse que era tempo de regressar. O companheiro dela examinou-me e perguntou qualquer coisa à mãe, que se pôs a rir e corou, encarando-me com um brilho de cólera nos olhos. Ao chegar a casa encontrei uma senhora que não conhecia.
- Como é grande o seu filho! - disse ela. - bom dia, meu pequeno! - Falava rangendo como engrenagens enferrujadas e mostrava os dentes de um modo tão afectuoso - eram pontiagudos, compridos e brancos - que parecia querer-me morder. Tinha um rosto esverdeado, olhos verdes, fitas verdes no chapéu e vestia um vestido preto que a fazia parecer ainda mais verde: fugi para longe dela.
Depois encontrei a avó que me disse que eu teria brevemente um novo pai. Eu não sentia qualquer necessidade de pais, novos ou velhos, e não prestei grande atenção a esse anúncio; mas à noite chegaram muitos convidados, apresentaram-me ao senhor que tinha encontrado na companhia da mamã e disseram-me que era o meu novo papá. O "novo-papá" picou-me a face com os seus bigodes e disse que me compraria uma caixa de aguarelas. Depois levaram-me à dama verde e disseram-me que era a minha nova avó. Esta nova avó não era muito nova e tinha uns dedos incrivelmente longos e finos. Mergulhou-os nos meus cabelos e começou a interrogar-me acerca de não sei quê mas eu não tinha vontade de falar com ela e procurei a mamã com os olhos. Estava ali: hoje mais bela do que nunca e provavelmente muito boa: os olhos tinham um brilho tão meigo! Aproximeiime dela e pedi-lhe licença para ir no dia seguinte para o campo, com o porteiro, e que me dispensasse
80
de aprender um longo recitativo onde se falava de uma estrada poeirenta.
Mas ela empurrou-me pelos ombros e disse-me: - Vai-te embora! - Aquilo admirou-me: eu sabia muito bem que quando estamos contentes nos tornamos bons, por isso renovei a pergunta.
- Deixa-me em paz, já te disse! - gritou ela, dando-me uma bofetada na testa. Senti-me muito infeliz.
No dia seguinte realizou-se o casamento da mãe com o meu novo papá. Eu estava triste, lembro-me muito bem; de um modo geral, a partir daquele dia não há lacunas na minha memória. Recordo-me de todos os familiares a voltarem da igreja, e, quando os vi da janela, julguei necessário esconder-me debaixo do sofá. Agora, explicarei esse comportamento pela necessidade de saber se pensariam em mim ao verificarem que eu não estava; mas duvido muito que fosse esse o pensamento condutor quando me enfiei debaixo do sofá. Durante muito tempo, não se pensou em mim... No sofá estavam a mamã e o novo papá; o aposento estava cheio de convidados; todos estavam alegres, todos riam, e também eu me senti alegre e tive vontade de sair dali debaixo. Mas como consegui-lo?
Porém, enquanto tentava encontrar um processo de aparecer sem ser notado, no meio dos convidados, senti-me vexado e triste, e o desejo de sair do meu esconderijo afogou-se nesses sentimentos. Por fim, alguém se recordou da minha existência.
- Onde está o Alexis? - perguntou a avó.
- Correu tanto que deve estar por aí, a dormir nalgum canto - respondeu a minha mãe com indiferença.
Recordo-me de ela ter dito precisamente isso com indiferença; eu esperava com tanta impaciência o que ela diria que não posso deixar de me lembrar.
- É tempo de o meter num colégio - disse o meu avô. - Está quase com sete anos.
- Sim, já é tempo! - concordou a minha mãe.- Está-se a tornar indomável.
81
- É um garoto incoerente -disse o meu avô. - Ora faz tais tolices que seria preciso chicoteá-lo dez vezes por hora, ora fica como que adormecido um dia inteiro.
com este comentário fui esquecido e, isso nunca o esquecerei, qualquer desejo que eu tivesse...
Pouco depois, minha mãe e o meu padrasto partiram para Moscovo e eu fiquei com o avô e a avó. Agora só me vigiava um par de olhos, os da avó não me perturbavam porque ela amava-me, e também porque estava muitas vezes embriagada. Ela bebia bastante e um dia esteve quase a morrer. Lembro-me como a aspergiam com água e como ela estava deitada na cama com um rosto violáceo, e olhos apavorantes, perturbados, absurdamente abertos. Também eu a amava muito: era sempre tão boa e tão divertida, contava-me tão bem contos terríficos que começavam sempre por estas palavras: "Ora, então, meu caro senhor!..." Ela tinha um nariz enorme, todo cheio de rugas, vermelho quando tinha bebido, e que atraía sempre para baixo a cabeça de espessos cabelos pretos. Além disso, tinha olhos negros, grandes e, mesmo quando se encolerizava contra mim, sempre afectuosos.
Uma vez que ela estava ébria, o avô pôs-se a bater-lhe, ela caiu ao chão e, estendida, começou a injuriá-lo;
- Bate, demónio ruivo, bate, que esperas, bate velho patife! - Eu estava a dormir mas, acordado pelo barulho, saltei da cama e, ao ver o que se passava, atirei com uma candeia acesa ao avô. Pouco faltou para que houvesse um incêndio, o avô queimou as pernas e bateu-me.
Incidentes deste género eram frequentes e eu representava sempre neles um papel activo, o que deu em resultado ser o mais amado pela avó e mais detestado pelo avô. Quanto à minha mãe, parece-me que não pensei nada em todo o tempo que durou a ausência. Nessa época eu era pouco a pouco absorvido pela vida da rua, e o estudo ocupava-me muito tempo. Agora líamos, com o avô, São Crisóstomo, depois de ter acabado o Saltério e o Livro de Horas. Tanto quanto me posso lembrar todas essas leituras não deixavam qualquer traço quer no meu coração quer na minha cabeça.
82
Um belo dia o avô, com ar aborrecido e mau, disse-me:
- Amanhã chega a tua mãe. Tiveram um incêndio, perderam tudo. Tu lhe dirás para te corrigir da melhor maneira.
Tenho a impressão de não ter sentido mais do que curiosidade e medo perante aquela notícia: a isso se limitavam agora todos os meus sentimentos filiais. Antes do segundo casamento de minha mãe, ouvi-a dizer certas coisas que mataram em mim todos os sentimentos positivos a seu respeito. Estava deitado no jardim, no meu valado, e ela passeava ali perto, com uma das suas amigas, a mulher de um oficial.
- É um pecado - dizia ela - mas não posso amar Alexis. Foi ele que contagiou o pai com a cólera que o matou; é ele que me liga agora de pés e mãos. Se ele não existisse eu viveria! Mas com um fardo daqueles aos pés, não se pode ir longe.
Primeiro não compreendi, depois senti-me triste, mal disposto, e quando, no dia seguinte, ao saltar da cama, fui dizer bom dia à mamã, fiquei muito tempo de pé, à porta do quarto dela, antes de entrar. Não tinha vontade de ir ter com ela. E quando entrei não pude olhá-la de frente, porque me sentia culpado em relação a ela: não queria beijar-lhe a mão e no entanto fi-lo. Esse beijo devia exprimir o meu respeito e o meu amor para com ela como minha mãe, mas sei muito bem que já então não a amava. De resto duvido tê-la alguma vez amado verdadeiramente, mas respeitava-a, sem dúvida, porque a temia.
As mulheres que têm a intenção de gozar a vida, sem se deixarem ligar por coisa nenhuma, devem destruir os filhos no seio, nos primeiros momentos da sua existência, senão mesmo para a mulher é desonesto, depois de ter arrancado à vida as flores do prazer, pagar a sua dívida para com ela... (1).
Minha mãe chegou. Já não era aquela beleza que tinha partido para Moscovo, no ano anterior. O rosto
(1) com uma ou duas criaturas como eu (cortado no manuscrito).
83
estava pálido, e nos olhos havia algo de perdido e lastimoso. Fiquei contente por a ver, não sei porquê. E ela sorriu-me com meiguice, dizendo que eu tinha bom aspecto e que crescera. O avô afirma que sou um patife obstinado. Mas não é verdade e a avó e eu protestámos. A mamã sorri-me novamente em silêncio. O meu padrasto está encolerizado; está sentado aparte, num canto, e não presta atenção a ninguém. Durante algum tempo conservo a esperança de que tenham trazido qualquer coisa para mim, mas as minhas esperanças desvanecem-se com o destino amargo da maior parte das esperanças humanas.
A seguir recomendam-me que me ponha a andar; saio e, do jardim, ouço um ruído de vozes irritadas, a voz de peito da minha mãe domina todas as outras. E um alarido igualmente vivo e violento se faz ouvir no dia seguinte, e no outro, etc.
Após um certo tempo, o meu padrasto e a minha mãe vão para Moscovo, e fico novamente em casa do avô. Estou bem, o avô está doente, a avó bebe; faço o que me apetece durante dias inteiros. Não tinha camaradas nessa época era de feitio bastante irregular, demasiado irritável para poder inspirar simpatia. Além disso, não sei por que razão, os rapazes da minha idade tinham medo de mim.
STOP!
Adélia, tu que interpretas sempre tão mal todas as minhas palavras! O teu nariz comprido, estirado pelas autoridades e opiniões feitas, hábitos e preconceitos, o teu infeliz nariz farejando servilmente os julgamentos dos grandes espíritos, o teu nariz lamentável pelo qual te conduzem tantas vezes diversos charlatães, esse nariz fenomenalmente obtuso, sempre, quando se critica o teu círculo, espirra fortemente, bruscamente, e quase sempre espirra com injustiça.
Adélia! Adélia! Houve um tempo em que no meu puro amor por ti não havia piedade nem desprezo, houve um tempo em que eu, pobre imbecil, supunha teres o teu lugar não apenas no feio e no mesquinho mas também
84
no belo e no sublime. Oh! Adélia! Adélia! Que amargura quando adquiri a convicção de que não honravas o belo e o sublime neles participando.
De resto, isso não tem qualquer relação com o assunto, Adélia, nenhuma relação; ajustarei contas contigo em outro lugar.
Afastei-me do meu assunto pela razão seguinte: Adélia, a minha virtuosa, aposta que a franqueza com que te escrevo te choca, e que provavelmente já classificaste o meu relato de nada menos que cinismo, o que, seja dito entre parêntesis, não me entristece, sabendo que tu, meu obtuso, chamas à insolência temeridade de coração, e vice-versa, conforme a tua disposição; à sinceridade, patetice e reciprocamente; à coragem, loucura e reciprocamente, etc. Não tens linguagem e és pobre de inteligência, és, minha querida, sem personalidade, tu és desprovida de personalidade, minha Adélia, e que o Espírito Santo da vida e o bom senso te perdoem os teus pecados veniais, os teus pecados reais, os teus pecados mortais, como eu os perdoei!... Digo, portanto, que é de apostar que estás Indignada pela minha falta de respeito para com a sombra sagrada da minha mãe; mas, Adélia, digo-te francamente e de uma vez para sempre: é diante do pensamento que me inclino; e para ele nada há de sagrado, porque ele próprio é o Santo dos Santos, porque ele é o próprio Deus.
O que é importante não são pais e mães, o que é importante são os homens, todos os homens, quer dizer tu, infeliz escrava que roda ao sabor dos ventos.
BIOGRAFIA
Ela trazia um vestido preto, uma jaqueta de veludo da mesma cor guarnecida com pele branca e, na cabeça, um largo chapéu, igualmente em preto, com uma multidão de fitas e uma grande pluma branca. Como vê, minha cara, não desdenho a beleza que o acaso põe no meu caminho e mantenho a sua recordação nos mais ínfimos pormenores. Aquela mulherzinha era sua precursora, isso
85
salta aos olhos. Teve ainda uma coisa boa, é que se foi embora depressa; desse modo o que me deu mantém-se puro e intacto para sempre. Pode acontecer que veja nisto uma alusão, uma intenção especial da minha parte. Enganar-se-ia. Amo-a, bem o sabe. Mas seria bom que fosse o desejo de fecundar o terreno que levasse as pessoas a semear e não o de arrebanhar a colheita! Era isso que pretendia dizer, e sei que é estúpido. Como se se pudesse supor um ser humano desinteressado e ter fé nele!
O meu regresso ao seio familiar dos meus patrões.
- Estás curado? - pergunta de uma humanidade toda patronal.
- Não te vais pôr outra vez a ler livros, hem? - pergunta irónica e ameaçadora. Assim termina a cena do acolhimento e começa uma série de horrores dos mais monótonos que se chamam "educação de um órfão-parente afastado".
Recomeço a ler livros e a roubar dinheiro para comprar velas e acabo por ser apanhado em flagrante, com uma moeda de quinze copeques surripiada de um bolso e que mantenho fortemente apertada na mão. Segue-se um interrogatório severo para pôr a claro todas as circunstâncias. Levado pelo desejo de excitar ainda mais os meus juizes confesso sinceramente todos os meus pecados que não tinham sido, até então, sequer suspeitados; sinto-me um herói e desvendo, até aos mais ínfimos pormenores, o modo como visitava os bolsos, mantendo no entanto em silêncio o facto de a avó se aproveitar de uma parte do produto dos meus roubos. Recebo uma tareia a título de advertência, com promessa de uma tareia maior na presença de duas testemunhas quando o avô chegar.
Caía a noite. Era uma daquelas deliciosas noites de Primavera que enche o coração de um desejo de liberdade. Pela janela da cozinha eu contemplava o céu: lá em cima tudo era belo, puro e triste como de resto em todas as noites de Primavera; mas nunca a tinha sentido tão majestosa e acariciadora, tão rica de promessas.
86
Por isso abri a janela e, deixando-a aberta, trepei para o telhado de onde desci para o pátio dos vizinhos que eu sabia não fecharem o portal de noite. Saí para a rua e tomei a direcção dos campos; não há sítio mais favorável à meditação. Mas, naquela noite, não encontrei assunto digno para o pensamento e deitei-me simplesmente, pondo-me a ver as estrelas brilhar lançando faíscas de luz... até ao momento em que adormeci.
Despertou-me o sol, queimando-me o rosto. Pensei que tinha de ir para casa do avô; mas recordei o que ele tinha dito e, sabendo que era um homem que não falava por falar, mudei de opinião. Voltar ao local de onde me tinha escapado não me veio sequer ao espírito. Levantei-me e parti.
Não sei bem porquê, dirigi-me para os cais e parei ali para olhar um vapor que se preparava para partir. Tive vontade de comer. Passa um homem vestido de branco com um boné alto: é um cozinheiro: tem na mão um cesto com um amontoado de pães. - Meu senhor, dê-me um! - Desaparece! - diz ele. Mas logo a seguir diz: - Espera, anda comigo.-Aquela reviravolta assusta-me, tanto mais que o cozinheiro se dirige para o barco prestes a partir. Separo-me da mão dele.-Anda daí, estúpido, não tenhas medo! Terás tanta comida que ficarás saciado até ao fim da tua vida. - Diz aquilo de uma maneira tão afectuosa e tão apaziguadora que o -meu receio desaparece. Sigo-o a pé coxinho. Chegámos à cozinha, toda em ferro: a fornalha está vermelha como brasas, reina ali um odor agradável e saboroso, e está calor como num forno. - Come e ouve-me. - Serve-me pão e costeletas frias, como o ouço-o. - Queres ser moço de cozinha? - Como tenho a boca cheia aceno afirmativamente com a cabeça. Ao fim de uma hora suo por todos os lados e lavo a loiça cuidadosamente; espirro e assoo o nariz com a manga da camisa, despejo água à direita e à esquerda, sujo tudo à minha volta de todas as maneiras possíveis e imagináveis: o que, no fim de contas, significa "ser moço-de-cozinha".
Tomei gosto àquela vida activa, rica de impressões variadas onde mudam constantemente paisagens e tipos
87
humanos. Os cozinheiros e os empregados eram, bem entendido, sujos, grosseiros e ordinários: mas eram meus amigos e, decerto por essa razão, também eu os estimava. O dia do trabalho começava às seis da manhã e fervilhava sem tréguas até às dez, onze horas da noite. Depois ficava livre de qualquer tarefa; era então que começava algo de bom e exaltante. Depois de ter limpo a cozinha saía para o castelo da proa, às vezes sozinho, mas a maior parte das vezes em companhia daqueles mesmos cozinheiros e pessoal; preparávamos o chá; arranjávamos a mesa e ficávamos muito tempo sentados a conversar. Falava-se das coisas da vida, de acções estranhas que provocavam as caretas e as exclamações estupefactas dos interlocutores. Contavam-se estranhas, inexplicáveis histórias, imaginárias ou reais; algumas vezes contos; e quanto mais tarde era, mais a conversa perdia o seu carácter grosseiro, bestial, para tomar um tom humano e puro. O motivo disso era que a lua inundava sempre o rio com uma luz maravilhosamente terna e afectuosa, que o rio mugia pensativo e encantador sob as rodas do vapor e refluía para terra com um ruído suave, apaziguador, e as margens compunham uma série infinita de poemas de uma beleza indescritível que nos forçava a pensar e a sentir de uma maneira mais profunda, mais pura, com mais bondade.
- Somos todos pecadores! - suspirava o velho granadeiro Potap Andreiev, nosso chefe de popa, mergulhado na contemplação dos quadros que desfilavam ao longo do navio, cobertos de céu puro e límpido, inundado pelo azul-prateado do luar. Todos suspiravam e ilustravam essa tese indiscutível, umas vezes contando algum episódio das suas próprias vidas que a confirmavam, outras lembrando coisas que tinham ouvido dizer. Nesses relatos e no seu próprio tom, havia tanto calor, tanta alma, tanta beleza e bondade que me ensinavam a compreender e a estimar os homens. Essas confissões públicas onde, com uma total ausência de amor próprio, davam conta do desenrolar de tal ou tal das suas más acções, levavam-me a compreender clara e simplesmente - como não poderiam fazer quinhentos volumes - que o homem é apesar de
88
tudo bom e que, se é sujo e vil, não é decerto sua a culpa - mas que alguém ou alguma coisa assim o quer; eles faziam-me sentir que o homem é muito mais estúpido do que mau.
Algumas vezes também eu contava qualquer coisa tirada das minhas leituras; então Potap sentava-me nos joelhos dele, encarava-me com insistência e dizia quando eu tinha acabado de contar:
- Não serás um rapaz vulgar, Lolo, isso de certeza! Quando acabarmos a viagem direi ao patrão que te admita na cozinha definitivamente. Enquanto esperas, vai dormir.
Mas eu não queria dormir e ficava no castelo da proa a olhar os desenhos fantásticos que caíam das margens cobertas de arbustos e de matos, as ondas suaves e fortes do Volga que se fundiam num só espelho largo e liso, reflectindo com amabilidade o céu azul de uma profundidade infinita cravejada de pequenas manchas de fogo das estrelas, e de tudo o que se tinha vontade de ver nelas. Eu enchia os espaços dos quadros da minha vida futura: era modesta, feita apenas de acções exemplares. Erro de lugar em lugar, levando socorro a todos, ensinando a ler, a escrever e ainda outras coisas. Todos me amam e me amimam, todos me consideram como seu próximo e todos me são próximos e queridos. Oh! Como se viveria beata e animalmente na suave música dos poemas da natureza misturada com o murmúrio das ondas, dos sonhos harmoniosos e de uma pureza infantil e muitas outras coisas que agora me escapam e que nunca mais voltarei a sentir. Havia também desgostos, mas podemos, por esta vez, deixá-los de lado, não me recordar disso não fará mal nenhum.
No final da minha primeira viagem dei notícias à minha avó, em segredo, e, enviei-lhe três rublos, o meu primeiro dinheiro; depois voltei a partir até ao coração do Outono. Finalmente um último cruzeiro e desci para a margem com uma sensação de tristeza, sem saber para onde dirigir os meus passos e com vinte e sete rublos no bolso. vou a casa do meu avô: - Aha! Apareceste,
89
vagabundo! bom dia, bom dia! - Tinha o rosto mau, eu sentia que estava pronto para me bater. Mas cinco ou seis meses passados fora do alcance da autoridade dele tinham atenuado muito o medo que ele me inspirava e desenvolvido a minha independência; os vinte e sete rublos acrescentavam a tudo isso a sensação de me poder desenrascar sozinho. Decidi manter-me firme e não permitir que se exercessem violências sobre mim; lancei a troixa para um canto, com frieza e disse frontalmentebom dia! - e não menos frontalmente tirei do bolso um cigarro e pus-me a fumar.
Ele ficou espantado e sentou-se na cadeira, à minha frente, com os olhos enrugados e a boca aberta. Hurra! Decidi prosseguir no mesmo espírito e, entre duas fumaças, perguntei-lhe quanto me levava por mês pela pensão. Eu tinha calculado bem: a cupidez foi superior ao amargo sentimento de ter perdido a sua autoridade e o seu poder.
Quando a avó chegou, já estávamos sentados ao lado um do outro conversando amavelmente.
Quinze dias mais tarde, entrei na oficina de imagens santas Salabanov, sem salário, como rapaz de recados. Os trinta e dois bêbedos inveterados e bons rapazes que ali penteavam a cabeleira de Deus e a dos santos, bravos rapazes desprovidos do senso de medida em todos os seus actos, foram para mim muito simpáticos e eu para eles. Acabado o trabalho íamos até à taverna cantar canções e beber vinho; cantávamos e bebíamos até tarde da noite.
Dois meses depois entrei numa loja, também como aprendiz. O meu chefe, um homem baixo em todas as acepções da palavra, o caixeiro S. C., portou-se inicialmente com muita solicitude e humanidade em relação a mim. A meu pedido, e sob o meu conselho, até se inscreveu na biblioteca; e lia, na minha companhia, os romances de Salias, Mordovtsev, Trailles, extasiando-se sobre a minha inteligência dos livros. Mas quando lhe fiz notar, um dia, que roubar a patroa, uma velha fraca e alcoólica que o estimava tanto, não estava bem, teve certamente medo de que lhe denunciasse as proezas e deu às nossas relações um carácter mais oficial e mais normal
90
entre caixeiro, por um lado, e aprendiz, por outro. Na realidade eu tinha-lhe chamado a atenção, não porque estivesse convencido de que roubar fosse um crime, mas porque tais proezas não estavam de acordo com as nobres acções dos senhores Athos, Porthos e Aramis, do rei Henrique IV e outros heróis de romances, à imitação dos quais, pensávamos nós de comum acordo, devia limitar-se toda a vida humana. Depois de um período de cinco meses, salvo erro, naquele estabelecimento, zanguei-me com ele e recebi uma bofetada especialmente covarde, que me deu com muita hesitação. Parti-lhe a cara e fui despedido. Na oficina onde me estimavam fizera-me despedidas amigáveis e calorosas e arranjei novamente emprego num barco. Tive uma vez mais cinco ou seis meses de uma vida livre e feliz, apesar do trabalho excessivo, sujo e fatigante. Mas sou robusto e não me custava trabalhar; no final das tarefas esperava-me qualquer coisa de maravilhosamente bom, ou seja a leitura, a conversa com os marinheiros e os empregados da cozinha e a contemplação das belezas do Volga. As minhas leituras eram alimentadas por livros que comprava no mercado: eram sempre excelentes romances que descreviam um belo amor e proezas cavalheirescas, sempre idealmente desinteressadas e cheias de abnegação. Da vida, não davam a menor ideia, mas também não era o que se esperava deles, uma vez que todos os ouvintes já a conheciam perfeitamente sem auxílio dos livros. Eu conhecia-a igualmente, mais do que qualquer outro da minha idade. Por vezes o meu coração apertava-se tão dolorosamente, eu sentia tanta repugnância e tristeza que por muito tempo não podia pôr fim a essa dor e ela minava-me o sangue durante dias e noites. E como não? A cada passo encontravam-se homens como se não mostrava nos livros onde até os perversos eram puros e perversamente honestos e humanos; ao passo que aqui até os "homens de bem" eram muito mais grosseiros, repugnantes, mal-educados e piores do que eles em todos os aspectos. Quando falavam do comportamento de qualquer dos meus heróis, o homem de alma pura como o orvalho da manhã, acontecia frequentemente os meus
91
caros ouvintes interromperem a discussão a meio, cativados por algum pormenor salgado e brejeiro que lhes distraía o espírito em outras direcções e os fazia sorrir com sorrisos licenciosos, ou passarem ao jogo das cartas à primeira sugestão que se lhes fazia. Os pormenores maliciosos eram-me então desagradáveis por uma razão que eu não conseguia exprimir claramente e não gostava das cartas porque as pessoas se zangam sempre quando as jogam. Oh!, como eu teria perdido bem cedo a fé na bondade e na pureza do homem se não esperasse que para além desse mundo existisse o mundo dos Athos, Porthos, d'Artagnan e outros! Acrescentai a isso o temperamento, de um calor e de uma afectuosidade desinteressadas, que me levava a aproximar os homens; mas não tinha tido ainda tempo de aprender a olhar-lhes mais profundamente o coração: a ficção, desse modo, elevava-se cada mais em detrimento do homem. Havia, recordo-me, momentos em que me invadia um sentimento estranho: sentia vontade de vexar tranquila e friamente todos os que tinha diante dos olhos, magoá-los até às lágrimas! Porquê? Provavelmente não teria sabido explicá-lo. Mas isso passava depressa, cedendo o lugar a uma ardente curiosidade que me enchia do desejo de saber porquê?, com que finalidade? Como? "Que garoto desenrascado, este Lolo!", diziam os marinheiros quando os bombardeava com perguntas. Para que diabo tens tu necessidade de saber tantas coisas? Vá, desaparece!". Era assim que me despejavam água fria nos propósitos quando lhes parecia que me aventurava demasiado longe, fora dos limites da minha condição.
Eu ignorava, evidentemente, que necessidade era essa; mas sentia profundamente que ela existia e me dominava Felicitavam-me e admiravam-se frequentemente do meu espírito, talvez mais frequentemente do que o merecia. Como é sabido, os homens não têm muito desenvolvido o senso de medida, e, apesar do seu carácter limitado, eles franqueiam sempre os limites. Não posso deixar de dizer que tais louvores me entravam por um ouvido e saíam pelo outro; o meu coração não mergulhava no bálsamo da auto-adoração: os momentos em que me
92
sentia satisfeito comigo mesmo eram muito curtos, perdiam-se bem depressa na massa das solicitações vindas do mundo exterior ou nascidas em mim próprio. Esforçava-me por penetrar, esclarecer, analisar e sentia-me um rapazinho, fraco, votado a ser rapidamente esmagado pela vida se não aprendesse, sem perda de tempo, certas coisas, e arranjasse um ponto de apoio. Olhando à minha volta e lançando a vista para o futuro, descobria que não devia esperar auxílio de parte alguma; isso dava-me não sei que sensação, muito amarga e dolorosa. Quantas pessoas há pelo mundo que são cultas, e não têm vontade de ser o que são, pensava eu; e eu que o queria ser não tenho tempo e não....
Os dias passavam, as noites corriam suavemente, e eu trabalhava, sempre a suar, sujo, e pensava, pensava, pensava. Mas isso não me servia absolutamente para nada. Só me levava a verter lágrimas que escondia cuidadosamente e fazia nascer em mim uma disposição melancólica e solitária que me levava a desejar evitar a convivência dos homens. Mas não os evitava e não estragava de modo algum a minha reputação de rapaz alegre e vivo, sentindo confusamente que não agia mal forçando-me a mim próprio. Era-me necessário mentir e simular bastante. Olhava com atenção à minha volta e aguardava auxílio. Mas perante eles, em lugar desse auxílio, o que surgia eram as bolhas perturbadoras das relações humanas e propunham-me, até à obsessão, decifrá-las nos seus mais ínfimos pormenores. O seu número não cessava de aumentar e espantava-me com a sua hipocrisia, a sua vulgaridade e a sua simplicidade manhosa, ou então, a sua simples astúcia. Observava fenómenos espantosos. Por exemplo, o senhor n.a 1 que uma hora antes bebia uma garrafa de vodka em boa camaradagem com o senhor n.° 2, diz ao n.° 3 que o n.a 2 é um canalha; o n." 2 relata amigavelmente ao n.° 4 que o n.° 1 é um idiota e seria uma boa coisa enganá-lo para maior glória de Deus e progresso das ciências. O n.° 4 informa o n." 1 para o pôr em guarda e, tendo recebido a recompensa que lhe é
(!) O manuscrito de Gorki está rasgado neste sítio.
93
devida, entende-se com o n.° 3 para caírem juntos em cima daquele mesmo n.° 1. - Os números 5, 6, 1, 101 todos eles, sonham com o melhor modo de se enganarem uns aos outros em pleno ambiente de amabilidades. Mentem e simulam, tanto por necessidade, quer dizer em função do objectivo, quanto de modo desinteressado, em nome da ciência e da técnica, ou na intenção de servir abnegadamente a arte pura da mentira e da simulação; ou ainda sem qualquer razão aparente. Evidentemente, havia também casos de amizade desinteressada, de abnegação, de auxílio mútuo. Via muitos desses casos, e alguns deles ficaram até hoje puros e intactos. Mas a maior parte das boas acções, uma vez estudadas mais de perto, revelavam-se ainda piores do que as más. Ou quem as praticava se vangloriava directamente dos seus actos, ou elas tinham como ponto de partida o desejo de ser louvado pelo público. Quando se vangloriavam olhavam o público de alto e o público, aprovando em voz alta, por baixo de mão escarnecia, zangava-se e manifestava de mil maneiras a sua independência em relação ao resultado benfazejo da boa acção. Evidentemente, eu não sentia tudo isso, mas compreendia-o. E, é claro, tudo isso me acabrunhava, mergulhava-me na tristeza; algumas vezes enraivecia-me, algumas vezes pensava no suicídio e, no fundo da minha alma, esperava uma explicação, olhando para todos os lados avidamente a ver se chegava finalmente aquele que me daria os pontos de apoio indispensáveis para a vida.
A viagem chegara ao fim. Tinha feito contas e já estava há uma semana em casa do avô, à procura de trabalho. Nessa época a minha situação era especialmente má. Tinha trazido pouco dinheiro e o avô fazia pressão para que o libertasse do fardo que eu era. Uma vez, com cólera, aconselhou-me abertamente a ir para qualquer parte, ainda que fosse, por exemplo, para o Inferno. Fiquei a pensar e saí para o átrio que separava...
EMILIANO PILAT
- Só nos resta ir para as salinas! O sal é um trabalho de cão raivoso, mas apesar de tudo é preciso encará-lo, porque desta maneira, Emiliano, arriscamo-nos a morrer de fome.
Dito isto, o meu camarada Emiliano Pilai tirou do bolso pela décima vez a bolsa do tabaco e, depois de se ter convencido que ela estava vazia como ontem, suspirou, cuspiu, e, deitado de costas, pôs-se a assobiar e a olhar para o céu sem nuvens donde soprava um ar tórrido. Estávamos ambos deitados, com o ventre vazio, numa língua de areia a umas três verstas de Odessa, de onde tínhamos saído por falta de trabalho. Emiliano estendeu-se na areia, a cabeça para a estepe e os pés para o mar, e as vagas que corriam pela margem e se quebravam com moleza lavavam-lhe os pés nus e sujos. Piscando os olhos ao sol, ora se estirava como um gato, ora deslizava mais para baixo, até ao mar, e a vaga cobria-o então quase até aos ombros. Aquilo agradava-lhe.
Olhei para o lado das docas onde se erguia uma floresta de mastros velada por pesadas nuvens de fumo cinzento-escuro; vinha de lá o ruído abafado das correntes das âncoras, o apito das locomotivas. Não vi nada que fizesse renascer em nós a esperança extinta de ganhar a nossa côdea e, levantando-me, disse a Emiliano:
- Então, vamos lá até às salinas?
95
- Está bem... Vai lá!... És tu que tens de arranjar as coisas.
- Ao chegar lá, veremos.
- Então, está decidido: vamos lá? - repetiu Emiliano sem mexer um único membro.
- Claro!
- Bem, bem! Que diabo, é um trabalho... Vamos lá! e que os diabos engulam essa maldita Odessa. Deixemo-la ficar onde está. Um porto de mar! Que a terra o engula!
- Então levanta-te e partamos. Não serve de nada praguejar.
- E onde vamos? Às salinas, não?... bom, sempre te quero dizer o seguinte: podemos ir a essas salinas, mas a coisa não vai dar nada.
- Foste tu que disseste para irmos.
- Está certo, fui eu. Que o disse, disse; agora não vou renegar as minhas palavras. Mas que não vai dar nada também o digo, e também é certo.
-E porquê?
- Porquê? Pensas que estão lá à nossa espera? Por favor, senhor Emiliano, senhor Máximo, entrem, quebrem os ossos, peguem lá os nossos níqueis!... Não, não é assim que as coisas se vão passar, A coisa acontece, vou-te dizer como: agora somos donos da nossa pele...
- Basta de palavreado! Vamos embora!
- Espera. Temos de ir ter com o Senhor Director dessa famosa salina e dizer-lhe com todo o respeito: Meu caro senhor, muito estimado patife e bebedor de sangue alheio, vimos aqui propor-nos à sua voracidade, pedindo-lhe a subida fineza de nos escorchar por sessenta copeques diários. Depois de dizer isto...
- Levanta-te e caminha. Daqui até à noite chegaremos aos pesqueiros, ajudamos a puxar as redes e talvez nos dêem de jantar.
- Jantar? Está certo. Dar-nos-ão de jantar; os pescadores são boa gente. A caminho... Mas a verdade é que não encontraremos nada de sério, há oito dias que andamos com azar, não se vê como sair disto.
Levantou-se, todo molhado, espreguiçou-se e mergulhou as mãos nos bolsos das calças que tinham sido
96
cosidas por ele em dois sacos de farinha, procurou, tirou as mãos vazias, levou-as à cara e disse com humor:
- Nada...! Há quatro dias que procuro e nada. É a vida, meu velho!
Seguimos ao longo da costa, trocando algumas palavras de vez em quando. Os pés mergulhavam na areia mole, misturada com as conchas que cantavam melodiosamente sob a carícia leve das vagas. Às vezes encontrávamos objectos que o mar rejeitava: medusas gelatinosas, peixinhos, pedaços de madeira negra de forma estranha embebidos de água. Soprava do mar uma brisa agradável e fresca, envolvia-nos com a sua frescura e seguia para a estepe, levantando pequenos turbilhões de poeira de areia.
Emiliano, habitualmente alegre, aborrecia-se visivelmente; notei-o e tentei diverti-lo.
- Vamos lá, Mimile, conta uma história.
- Cuspiria de boa vontade uma, meu velho, mas não tenho forças para segurar o escarrador porque... a pança está vazia. A pança é o principal no homem, e podes procurar o monstro que quiseres, não encontrarás nenhum sem pança!... Mas quando ela está sossegada podes dizer que a alma está viva; todas as acções humanas têm o seu ponto de partida na pança...
Calou-se por um momento.
- Eh, meu velho, se o mar agora me lançasse aos pés mil rublos, pumba! Abria imediatamente uma taverna, contratava-te como gerente, e punha a cama debaixo do balcão de modo a poder levar o vinho directamente do tonel à boca. Quando me desse na gana beber nas fontes da alegria, mandava: "Máximo, abre a torneira!" e glu-glu-glu, direito à goela. Engole, Mimile! Caramba, seria uma boa coisa. E esse mujique, esse senhor da terra negra, força, rapa-lhe a massa, esgana-o, esfola-o! Ele viria, pronto a embebedar-se: "Senhor Emiliano Pavlytch, dê-me um copinho a crédito! - Hem, a crédito, Deus me livre! - Senhor Emiliano Pavlytch, tenha pena de mim! - Pena de ti? Pois claro, puxa aí o carro, dar-te-ei um copito! Ha-ha-ha!" Dava-lhe cabo do canastro àquele diabo barrigudo.
97
- Estás-te a fazer bem duro, hoje! Repara que o mujique morre de fome.
- Que estás a dizer? Morre de fome?... E eu, não morro de fome? Eu, meu velho, morro de fome desde o dia em que nasci, mas isso não está escrito no catecismo. Sim, ele morre de fome, mas por quê? Más colheitas? Acontecem primeiro na cabeça dele, as más colheitas, e só depois nos campos, digo-te eu. Por que é que em todos os outros impérios não há más colheitas? Porque lá as pessoas não têm uma cabeça só para coçarem a moleirinha: lá, raciocinam, essa é a diferença. Lá, meu velho, são capazes de adiar a chuva para amanhã se não é hoje necessária, e deslocar o sol para trás se está forte demais. Entre nós que medidas se tomam? Nenhumas, meu velho. Não, que pensas? Tudo isso são brincadeiras, mas se eu tivesse mil rublos e uma taverna, a coisa seria um assunto sério...
Calou-se e, segundo o seu hábito, enfiou a mão à procura da bolsa do tabaco, tirou-a, voltou-a do avesso, examinou-a e, cuspindo com raiva, lançou-a ao mar.
A vaga apanhou no ar o pequeno saco sujo, pareceu arrastá-la para longe mas, depois de um exame, rejeitou-a indignada para a margem.
- Não a queres? Não é verdade, vais querê-la. Pegou no saco molhado, enfiou um seixo dentro dele
e com o mesmo gesto lançou-o para o mar. Comecei a rir.
- Diz-me cá, para que arreganhas os dentes. Também somos homens. Lês livros, traze-los contigo mas não podes compreender o ser humano! Que raio de diabo de quatro olhos és tu?
Aquilo referia-se a mim e o facto de Emiliano me ter chamado diabo de quatro olhos provava que o seu grau de irritação era muito elevado: só nos momentos de cólera aguda e de ódio em relação a todo o ser vivo ele se permitia zombar dos meus óculos; em geral esse ornamento involuntário dava-me a seus olhos tanto peso e importância que nos primeiros dias do nosso conhecimento não podia dirigir-se a mim senão tratando-me por "vós" com um tom cheio de respeito; e no entanto
98
carregávamos carvão juntos num qualquer vapor romeno e eu estava, como ele, coberto de farrapos, feridas e negro como Satanás.
Pedi-lhe desculpa e, desejoso de lhe apaziguar um pouco a rabujice, comecei a falar-lhe dos impérios estrangeiros, esforçando-me por lhe mostrar que os seus conhecimentos a respeito do modo de guiar as nuvens e o sol pertenciam ao domínio dos mitos.
- A sério!... Ah! É assim então! Bem, bem, de acordo!
- comentava ele de vez em quando; mas senti que o seu interesse pelos impérios estrangeiros e os usos em vigor lá longe, não era tão grande como de costume: Emiliano ouvia-me distraído, o olhar obstinadamente fixo diante de si, no longe.
- É como dizes - interrompeu-me com um gesto vago.-Mas diz-me uma coisa: se viesse agora um homem ao nosso encontro com dinheiro, muito dinheiro
- sublinhou ele, lançando um olhar de esguelha para os meus óculos - serias capaz, vê se me entendes bem, para te proporcionar tudo o que te falta, serias capaz de o matar?
- Não, evidentemente! - respondi. - Ninguém tem o direito de comprar a felicidade à custa da vida de outrem.
- Sim, sim, isso é que se diz com todas as letras nos livros, mas é só para repouso da consciência; na realidade, se o mesmo senhor que inventou essas palavras se encontrasse na verdadeira miséria, podes ter a certeza de que estrangularia o vizinho na primeira oportunidade em vez de se deixar estourar. O direito? O direito é isto.
Perto do meu nariz desenhava-se o punho imponente e nervoso de Emiliano.
- E qualquer homem se guiará sempre por esse direito. Não há possibilidade de modificar isto. Também é o direito.
Emiliano ficou carrancudo, escondeu os olhos no fundo das órbitas sob as sobrancelhas longas e descoloridas.
Eu calava-me, sabendo por experiência que, quando ele estava encolerizado, era inútil discutir.
99
Atirou para o mar um pedaço de madeira em cima do qual tinha caminhado e disse, suspirando:
- FuMaía de boa vontade uma pirisca.
Lançando um olhar para a estepe, à nossa direita, apercebi dois pastores deitados no chão, a olhar para nós. Saudámo-los. Emiliano chamou-os:
- Vocês não teriam por aí tabaco?
Um dos pastores olhou para o outro, cuspiu uma folha de erva mastigada e remastigada e disse preguiçosamente:
- É tabaco, o que eles querem, eh, Mikhail!
Mikhail ergueu os olhos para o céu, pedindo-lhe, com toda a evidência, permissão para falar connosco, e voltou-se para nosso lado.
- bom dia! Onde vão vocês? - disse ele.
- Para os lados de Otchakov, para as salinas.
- Eh, eh!
Em silêncio, sentámo-nos ao lado deles, no chão.
- Nikita, apanha o bornal não vão as gralhas pôr-se a debicar.
Nikita teve um sorriso no bigode e recolheu o bornal. Emiliano rangeu os dentes.
- Então é tabaco que vocês precisam?
- Há muito tempo que não fumámos-disse eu.
- Ora vejam! E então queriam um?
- Olha, Ucraniano de um raio, cala a boca! Dá se queres dar, mas não queiras gozar a malta, aborto! Perdeste a alma à força de rodar pela estepe? Dou-te quatro socos no focinho e tens tempo de a encontrar! - uivou Emiliano rolando os olhos.
Os pastores estremeceram e saltaram para cima dos pés, agarrados aos longos cajados e apertados um contra o outro.
- Ah, é assim que vocês pedem? É bom saber isso; vamos, ponham-se a andar!
Os patifes dos Ucranianos queriam-se bater, disso não tinha eu dúvidas. Emiliano, a julgar pelos punhos apertados e pelo ardor selvagem que lhe faiscava nos olhos, estava também a dois passos da luta. Pessoalmente, não
100
me interessava participar naquele combate, e esforcei-me por reconciliar as partes.
- Alto aí, rapazes! O meu camarada alterou-se, mas isso não tem importância. Dêem-nos vocês um pouco de tabaco, se o não lamentam, e nós iremos à nossa vida.
Mikhail olhou para Nikita, este olhou para Mikhail, e ambos se puseram a rir.
- Por que não disseram logo isso?
Depois Mikhail enfiou a mão no bolso do casaco, tirou uma grande bolsa e estendeu-ma:
- Pega lá o tabaco.
Nikita vasculhou no alforje, depois estendeume uma mão cheia com um grande pão e um pedaço de toucinho generosamente polvilhado com sal. Peguei neles. Mikhail pôs-se a rir à gargalhada e deu-me mais algum tabaco. Nikita murmurou "Adeus" e eu agradeci-lhes.
Emiliano deixou-se cair com ar aborrecido e soprou em voz suficientemente alta:
- Malditos sacanas!
Os Ucranianos afastaram-se para as profundidades da estepe com passos pesados e balançados, voltando-se para nós a cada passo. Sentámo-nos no chão e atacámos o pão quase branco e o toucinho. Emiliano estalava os lábios, fungava e, não sei porquê, evitava constantemente o meu olhar.
Caía a noite. Ao longe tinha-se erguido a sombra e planava sobre o mar cobrindo-lhe as rugas com uma névoa azulada. No horizonte um maciço de nuvens de um amarelo-alilasado, bordado de ouro rosa, sublinhava a sombra e avançava sobre a estepe. Mas nesta, lá longe, muito longe no seu extremo, o imenso leque púrpura dos raios do poente tinha-se aberto e coloria a terra e o céu com tonalidades suaves e delicadas. As vagas quebravam-se na margem; o mar, aqui rosado, além azul-escuro, era maravilhosamente belo e possante.
- Agora vamos fumar um! Que vão para o Inferno esses Ucranianos de má morte. - Depois de arrumar assim os Ucranianos, Emiliano soltou um longo suspiro Vamos para mais longe ou passamos aqui a noite?
101
Eu tinha preguiça de ir mais longe. Decidi:
- Fiquemos!
- bom, fiquemos! - concordou ele. Depois estendeu-se no chão a examinar o céu.
Emiliano fumava e cuspia; olhei à minha volta e deleitei-me com o quadro maravilhoso do crepúsculo. O ruído monótono da vaga contra a margem expandia-se ao longo da estepe.
- Digas o que disseres, é agradável mandar um murro no focinho de um tipo com massa; sobretudo se se sabe fazer as coisas bem feitas.
- Deixa-te de disparates-disse eu.
- Disparates? Que estás para aí a dizer? É uma coisa que será feita. Garanto-te em consciência. Tenho quarenta e sete anos e há pelo menos vinte que quebro a cabeça com esta operação. Que vida tenho? Uma vida de cão. Nem nicho, nem côdea, meu velho, pior do que um cão. Achas que sou verdadeiramente um homem? Não, não sou um homem, sou pior que um verme ou um animal dos bosques. Quem me pode compreender? Ninguém, mas se sei que outros podem levar uma bela vida, por que não posso eu? Diz-me? Estou farto desta maldita vida! - Voltou de repente o rosto para mim e disse rapidamente:
- Sabes, um dia estive prestes a... Mas a coisa não resultou... Hoje arrependo-me, caramba! Fui um idiota, tive pena! Queres que te conte?
Apressei-me a dar-lhe a entender o meu interesse; Emiliano tirou uma fumaça e começou.
- Meu velho, a coisa passou-se em Poltava... Há oito anos. Era contramestre em casa de um comerciante de madeiras. Durante um ano vivi razoavelmente, sem problemas. Depois, de um dia para o outro, comecei a beber, gastei na taverna uns sessenta rublos do patrão. Entregaram-me ao juiz e puseram-me nas companhias disciplinares por três meses, estás a ver o que isso quer dizer. Soltaram-me depois de ter cumprido a pena; não sabia para onde ir. Na cidade conheciam-me: ir para outra, não tinha dinheiro para isso. Fui ter com um tipo duvidoso que eu conhecia: tinha um tasco e estava metido em
102
histórias de roubos, acobertando toda a espécie de patifórios e os seus projectos. Era um rapaz que tinha bom coração, tão honesto que era quase milagre e um tipo que tinha qualquer coisa na cabeça. Lia muitos livros, mesmo muitos, e tinha uma compreensão muito grande da vida. Fui-o procurar: "Diz-me cá, Paulo Petrov, disse-lhe eu, dá-me uma ajuda!" - "Pode ser, diz ele, Quando somos da mesma raça devemos-nos ajudar. Vive, bebe, come, olha à tua volta." Era uma inteligência aquele Paulo Petrov. Tinha-lhe estima e também ele estimava-me. Às vezes, durante o dia, ficava sentado atrás do balcão a ler um livro que falava de salteadores franceses, os livros dele eram todos sobre salteadores; nunca me cansava de o ouvir... eram tipos formidáveis que faziam proezas de grande vulto e que, invariavelmente, se iam abaixo com estrondo. Ficas convencido que o negócio está garantido e no final do volume encontra-los de repente diante do juiz... pumba, caramba! Tudo reduzido a cisco.
"Fiquei em casa dele um mês, dois meses, a ouvir o que ele lia e tudo o que ele contava. Observava as idas e vindas de uns quantos tipos suspeitos que traziam coisas brilhantes: relógios, puseiras, etc e reparei que
não havia um grama de bom senso naquelas transacções. Eles arrebanhavam qualquer coisa: Paulo Petrov dava metade do valor: quanto a isso meu velho ele pagava honestamente - e aí vão eles largados. Era uma grande festa, dava para sustentar mulheres, umas farras e não sobrava nada. Pobres diabos, meu velho. Ora era um que ia parar ao tribunal ora era outro...
"Mas valia a pena? Suspeito de roubo com arrombamento, o montante do roubo andava pelos cem rublos! Cem rublos! A vida humana vale cem rublos? Era preciso não ter dois dedos de cérebro. Então disse a Paulo Petrov:
"Tudo isso é estúpido e não vale a pena sujar as mãos. - Hum!, disse-me ele, por um lado a galinha pica o grão e, por outro lado, o problema é que as pessoas não se respeitam a si mesmas. Achas que verdadeiramente, disse ele, um homem que conhece o seu
103
preço aceita sujar as mãos a roubar vinte copeques? Nunca. E agora pensa, disse ele, um homem como eu, que toca com a sua inteligência na cultura da Europa, achas que se vai vender por cem rublos? Começou então a mostrar-me exenplos de como deve proceder um homem que sabe o seu preço. Falámos disso durante muito tempo. Depois eu disse-lhe: Desde há muito que penso, bem, Paulo Petrov, tentar a sorte e queria que me ajudasse com a sua experiência, com o seu conselho: como devo proceder, que devo fazer? - Hum, disse ele é possível. Mas não és capaz de arranjar um pequeno caso, por tua conta e risco, sem auxílio? Por exemplo, Obaímov, disse ele, regressa no dia 11 sozinho, no seu carro, vindo da serração; como sabes, traz sempre dinheiro com ele, à vinda o capataz entrega-lhe a receita . É a receita de uma semana: eles fazem por dia trezentos rublos e mais. Que dizes? - Eu fiquei pensativo. Obaímov era aquele mesmo comerciante em casa de quem eu tinha trabalhado como contra-mestre. A coisa era duplamente agradável; primeiro, poderia vingar-me da maneira como me tinha tratado, depois poderia arrancar um resultado que valeria a pena. Disse-lhe que ia pensar e ele encorajou-me.
Calou-se e começou a enrolar um cigarro lentamente. O poente estava quase extinto, só uma estreita fita cor de rosa empalidecia de segundo a segundo, mal coloria a borda de uma nuvem macia que se mantinha no céu como que prostrada de lassidão. Na estepe tudo era calmo, triste, e o suave marulho que vinha do mar incessantemente parecia sublinhar com o seu ruído monótono e lânguido essa tristeza e essa paz. Acima do mar, uma após outra, as estrelas cintilavam com unn brilho tão novo que dir-se-iam feitas na véspera para ornamentar o céu com os veludos do Meio-dia.
- Sim, meu velho, ruminei o projecto e naquela noite deitei-me nos matos perto de Vorskla, munido com uma cavilha de ferro de cerca de sete libras. A coisa passava-se no fim de Outubro, se bem me lembro: fim de Outubro. A noite era o que havia de melhor: estava escura como a alma de um homem... O sítio não podia
104
ser melhor. Naquele momento havia ali uma ponte e à entrada tinham sido arrancadas algumas pranchas, despregadas, por isso o carro teria de ir a passo. Deito-me. Espero. Malvadez, meu velho, nesse momento eu tinha para dez comerciantes. O caso para mim apresentava-se muito simples - era impossível achá-lo mais simples: pumba, e acabou, acabou!... Claro... Portanto, eu estava deitado, sabes, absolutamente pronto a agarrar aquele pé de meia. Isso mesmo: pumba e já está.
"Pensas talvez que o homem é dono de si mesmo? Larachas, meu velho! Conta-me o que farás amanhã. Tolices. Não és capaz de garantir se vais para a direita ou para a esquerda, amanhã. Eu estava deitado e esperava Sim, claro, menti-lhe, não lhe ia dizer que estava ali deitado para matar o tal comerciante. E ela respondeu-me: "Não me interessa, ao fim e ao cabo eu vim aqui para me afogar." Disse-me aquilo de uma maneira tal que senti um arrepio por todo o corpo, meu velho. Diz-me cá, que podia eu fazer, hem?
Emiliano, com ar abatido, afastou os braços e olhou-me com um largo sorriso infantil.
- Então, meu velho, iniciei a conversa. Acerca de quê, não me lembro; mas falei até ela me ouvir falar; sobretudo afirmei-lhe que ela era jovem e bela. E quanto a ser bela, era mesmo isso, digo-te eu, a bela das belas. Ah!, meu caro! Deixemos isso. Chamava-se Lisa. E então eu disse-lhe não sei o quê, sabe-se lá o que eu lhe disse! O coração falava. E ela olhava, sempre séria, assim, com os olhos fixos, e de repente sorriu! - uivou Emiliano através da estepe com lágrimas na voz e nos olhos, sacudindo no ar os punhos cerrados.
- Quando ela sorriu eu derreti-me; fiquei de joelhos diante dela, dizendo apenas: "Oh, menina, menina!". E ela, meu caro, ela tomou-me a cabeça entre as mãos, olhou-me de frente e sorriu como uma imagem; mexia os lábios queria dizer qualquer coisa; depois ganhou coragem e disse: "Meu pobre amigo, é tão infeliz como eu. Não é? Diga-me, meu caro!" Pois é, meu velho, eis a história. E não foi tudo, deu-me um beijo na testa. Foi assim.
105
Sabes, em quarenta e sete anos de vida nunca conheci nada melhor. É preciso dizê-lo. Por que não fiquei lá? Ah!, raio de vida!...
Calou-se, com a cabeça nas mãos. Surpreendido pela estranheza do relato, mantive-me em silêncio, olhando o mar que se assemelhava a um peito imenso, mergulhando num sono profundo, com uma respiração regular e possante.
- A seguir ela levantou-se e disse-me: "Venha comigo a minha casa". Partimos, comecei a caminhar sem sentir o meu peso nos pés e ela contou-me tudo de uma ponta um tipo e a coisa não se passou como eu contava. Uma história inverosímil.
"Olho: alguém vem da cidade, ébrio como sei lá quê, titubeante, com um pau na mão. Murmura qualquer coisa; murmura palavras sem continuidade e chora, soluça... Quando se aproxima mais de mim, reparo: é uma mulher. "Maldita gaja, espera aí que te passo um sabonete, digo eu, chega-te cá!" Ela vai direita à ponte e de repente grita: "Querido, porquê?" Meu velho, que grito! Estremeci. "Que quer dizer esta parábola?", digo eu. E ela vinha direita a mim, eu estava deitado, espalmado contra o solo e todo o meu corpo tremia. Onde estava a minha raiva de há pouco? Ei-la que vem ao meu encontro, vai tropeçar em mim. E recomeça a gritar: "Porquê? Porquê?" e pumba, ei-la caída no chão, quase a meu lado. E a gritar tão alto, meu velho, que não te posso dizer como o meu coração se dilacerou a ouvi-la. Mesmo assim fiquei deitado, sem me mover. E ela gritava. O aborrecimento dominava-me. Pôr-me-ei a andar, pensei. Mas nesse momento a lua saiu detrás de uma nuvem e estava tão claro, tão claro, chegava a meter medo. Ergui-me sobre um cotovelo e olhei-a... E então, meu velho, não pensei em mais nada, todos os meus planos se foram por água abaixo. Olho-a e o meu coração sobressalta-se: era uma rapariguinha, uma verdadeira garota, branca, anéis de cabelo nas faces, olhos pequenos assim, que me olhavam assim... e ombros delicados que não paravam de estremecer, e olhos de onde corriam lágrimas grossas que caíam, caíam... umas atrás das outras.
106
A compaixão, meu velho, tinha-se apossado de mim. E então comecei a tossir: hah, hah, hah! E ela a gritar: "Quem está aí? Quem é? Quem está aí?" Era porque tinha medo!... Eu então levantei-me e disse: "Bem, sou eu! - Eu, quem?", perguntou e!a. Os olhos tinham ficado assim e ela tremia toda como se fosse de geleia. "Quem é você?", perguntou ela.
Ele começou a rir.
"Quem sou eu e o que faço? Em primeiro lugar, peço-lhe que não tenha medo. Não lhe farei mal. Não sou mau homem, barato, do grupo dos vagabundos", digo eu. a outra. Compreendes, os pais, comerciantes, só tinham aquela filha e com toda a evidência tinham-na amimado: e então tinha vindo um estudante e tinha começado, claro, a dar-lhe lições e tinham-se apaixonado. Depois ele tinha partido para completar os estudos, segundo dizia, mas voltaria para se casar e ela pôs-se a esperá-lo. Tinham combinado assim as coisas. Ele não regressou tinha mandado uma carta:"Não és partido para mim". A rapariga, evidentemente, não achou graça àquilo. Partiu para se... bem, foi isso... Contava-me tudo e assim chegámos à casa onde ela morava. "bom, disse ela, meu caro amigo, até à vista. Amanhã vou-me embora daqui. Precisa de dinheiro? Diga, não faça cerimónia." Respondi-lhe que não, não tinha necessidade de nada, muito obrigado. "Vamos, não tome as coisas assim, tome", insistia ela. E eu continuei: "Não menina, não tenho necessidade." Sabes, meu caro, não tinha cabeça para aquilo, para pensar em dinheiro. Dissemo-nos adeus. Ela disse-me com uma voz acariciadora: "Nunca, nunca te esquecerei; é verdade, não és meu parente, e no entanto és-me tão...". Deixemos isso - cortou de repente Emiliano, recomeçando a puxar o fumo do cigarro.
"Ela tinha desaparecido. Sentei-me num banco junto da porta. Tinha o coração pesado. O guarda-nocturno passou e disse-me: "Que estás aí a congeminar, queres assaltar qualquer coisa?"
"Aquelas palavras irritaram-me profundamente. Mandei-lhe um soco à tromba, pumba. Um grito, um assobio... e aí vou eu para a cadeia! Que importa, a cadeia
107
não é a morte; podem-me meter lá por toda a vida, estou-me nas tintas; recomecei a bater-lhe. Sentei-me no banco e passei lá a noite. Não tinha vontade de fugir; de manhã puseram-me fora. Fui a casa de Paulo Petrov que me perguntou, a rir: "Onde passaste a noite?" Olhei para ele, era o mesmo homem de ontem, parecia-me, mas eu vi algo de novo. Contei-lhe tudo, claro, de uma ponta a outra. Ouviu-me com atenção e no fim disse-me: "Emiliano Pavlytch, o senhor é um ingénuo e um imbecil. Queira ter a bondade de se pôr fora da porta." Que havia naquilo de extraordinário? Nada; ele tinha razão. Saí e pronto. Aí está o meu caso, meu caro.
Calou-se, estendeu-se no chão com as mãos debaixo da cabeça e os olhos postos no céu, um céu de veludo e de estrelas. Tudo em redor era silêncio. O ruído da ressaca era mais suave e mais baixo, chegava até nós como um suspiro frágil e sonolento.
108
NA SALINA
I
- Vai lá para o sal, meu velho. Lá, arranjarás sempre trabalho... Há sempre, sempre... Uma vez que é um trabalho de forçado, um verdadeiro trabalho do Inferno, as pessoas não se aguentam... Na primeira oportunidade, abandonam... Não suportam aquela violência. Vai até lá carregar um dia inteiro. Dão-te seis copeques, o carro, e o chá... Por um dia não é tão mau como isso, pode-se aguentar.
O pescador que me tinha feito estas recomendações, cuspiu para o lado um jacto de saliva. Fixou o azul longínquo do mar e pôs-se a cantarolar, melancolicamente, através da barba. Eu estava sentado ao lado dele à sombra de uma parede do armazém; ele remendava as calças de pano grosso, bocejava e distilava lentamente entre os dentes diversas sentenças desiludidas acerca da falta de emprego neste mundo e acerca do trabalho que dava a simples pesquisa para arranjar trabalho.
- Se não aguentares aquilo... anda até cá, para descansar... Contarás o que lá se passa... Não é muito longe daqui, umas cinco verstas... Bem, vai lá.
Disse-lhe adeus, agradeci-lhe as informações e parti para o "sal". Era uma manhã quente de Agosto, o céu era puro e claro, o mar deserto e afável, as vagas esverdeadas acorriam uma detrás da outra, até à areia da margem,
109
com um marulho melancólico. Diante de mim, longe, na névoa azulada canicular, abriam-se manchas brancas na margem amarelada: era Otchakov; atrás de mim, o armazém desaparecia atrás das dunas de um amarelo-vivo, realçado violentamente pelo esmeralda das vagas...
Naquele armazém, onde tinha passado a noite, tinha ouvido relatos e críticas de um absurdo cheio de sentido e estava de mau humor. As vagas ressoavam em uníssono com a minha má disposição e reforçavam-na.
Bem depressa se desenrolou diante dos meus olhos o quadro da extracção do sal. Três quadrados de terra de 426 metros cada um, cercados por montículos muito baixos, ligados entre si por pequenos canais estreitos, representavam as três fases da extracção. Num deles, cheio de água do mar, praticava-se a evaporação: o sal depositava-se ali numa camada cinzento-pálido com reflexos rosados que brilhavam ao sol. No outro punham-no em montes: as mulheres que ali estavam empregadas chafurdavam, com a pá na mão, até aos joelhos, numa lama negra e brilhante, de uma maneira estranhamente desprovida de vida, sem gritar nem falar; aquelas silhuetas cinzento-sujo moviam-se com lentidão e lassidão no fundo faiscante da "rapa" gorda, salgada, devoradora (rapa é o nome que se dava ali a essa lama salgada). No terceiro quadrado carregava-se o sal em carrinhos de mão: curvados em dois os trabalhadores avançavam maquinalmente, sem pronunciar uma só palavra. As rodas dos carros gemiam e guinchavam, e esse ruído parecia um protesto insuportavelmente melancólico, subindo para o céu saído da longa fila de dorsos humanos, voltados para ele. E o céu lançava sobre eles um calor insuportável, tórrido, que fazia arder a terra cinzenta, fissurada, coberta aqui e além da erva avermelhada das salinas e de finos cristais de sal cujo faiscar cegava. No fundo sonoro do ranger monótono das rodas, destacava-se a nota vulgar e brusca da voz de baixo do capataz; cobria de injúrias grosseiras os carregadores que lhe despejavam aos pés o conteúdo dos carros e acumulavam o sal numa alta pirâmide depois de o ter molhado com um balde de água. Em pé, sobre um elevado monte de sal, agitando
110
o ar com uma pá, alto, negro como o carvão, vestido com uma camisa azul e calças brancas, gritava a plenos pulmões ordens dirigidas aos carregadores que faziam subir por uma prancha os carrinhos até ao cimo.
- Descarrega para a esquerda! Para a esquerda, já te disse, filho da mãe! Meu Deus, metia-te uma bala nos cornos. Devia-te arrancar os olhos! Onde te vais meter, ha? Gajo de uma figa, estupor!
Depois limpava o suor do rosto com a fralda da camisa, encolerizado, bufava com furor e recomeçava, sem se interromper um momento, a onda >de imprecações, alisando o monte de sal, batendo com toda a força com as costas da pá.
Os operários empurravam automaticamente os carrinhos para o cimo e despejavam-nos também automaticamente segundo a ordem: "à esquerda! à direita!"; depois, endireitavam as costas com esforço e com passos pesados, hesitantes, arrastando atrás de si o carrinho que agora gemia mais suavemente, como que fatigado, desciam as pranchas trémulas que mergulhavam na vasa espessa e negra e iam buscar mais sal.
- Mais depressa, bando de mandriões! - gritava-lhes nas costas o capataz.
Mas eles continuavam a arrastar-se com o mesmo mutismo e a mesma prostração e só os rostos curtidos, esgotados pela fadiga e pelo sofrimento, cobertos de lama e de suor, com os lábios fortemente apertados, estremeciam de vez em quando com um tique maldoso e irritado. Às vezes a roda de um dos carros saía da prancha, enterrava-se na lama; os carros que o precediam afastavam-se, os que o seguiam paravam e a força motriz que os movia, sob a forma de miseráveis sujos e andrajosos, olhava com indiferença estúpida o camarada que se esforçava por erguer o carrinho de duzentos e sessenta quilos e repor a roda na prancha.
Entretanto, no céu sem nuvens velado por uma bruma canicular, o sol ardente do meio-dia continuava a aquecer a terra em brasa com todo o zelo; dir-se-ia que lhe era absolutamente necessário convencê-la naquele mesmo dia da sua solicitude ardente.
111
Tendo examinado tudo aquilo do lado de fora, decidi tentar a minha sorte; adoptei o ar mais desinteressado que me foi possível e aproximei-me da prancha que os operários utilizavam para descer com os carros vazios.
- bom dia, rapazes! Deus vos salve!
Em resposta produziu-se alguma coisa de inteiramente inesperada. O primeiro - um velhote grisalho e vigoroso, cujas calças arregaçadas até aos joelhos e mangas até aos ombros deixavam ver um corpo bronzeado e ossudo
- não ouviu nada e passou por mim sem um gesto.
O segundo - um rapagão de cabelos ruivos e olhos cinzentos, maldosos - olhou-me com ar mau e fez-me uma careta horrorosa, atirando-me, ainda por cima, com um palavrão violento. O terceiro - um grego segundo parecia, escuro como uma barata e todo encaracolado - exprimiu, ao chegar ao meu lado, o seu desgosto pelo facto de ter ambas as mãos ocupadas, caso contrário teria o maior prazer em me esmurrar o nariz. Aquilo foi expresso de um modo bizarramente indiferente, que não convinha nada ao que pretendia dizer.
O quarto lançou em voz alta, zombeteiro: "bom dia, cegueta!" e tentou dar-me um pontapé.
Este acolhimento era, se me não engano, exactamente aquilo que entre pessoas bem educadas se chama "acolhimento pouco caloroso", e semelhante coisa nunca me tinha acontecido sob uma forma tão brutal.
Perplexo, tirei inconscientemente os óculos e, metendo-os no bolso, avancei para o monte de sal com a intenção de perguntar ao capataz se havia uma vaga. Ainda não tinha tido tempo de lá chegar e já ele me interpelava:
- He, tu, aí em baixo! Que queres? Trabalho? Disse-lhe que sim.
- E trabalhas com os carros?
Disse-lhe que, com todos os diabos, já tinha carregado bastante terra.
- Terra! Não presta! A terra é uma coisa muito diferente. Aqui carrega-se sal, não se carrega terra. Vai guardar vacas lá para a tua aldeia. É isso mesmo, meu camelo, despeja-me isso em cima dos pés.
112
O camelo, um gigante arruivado, andrajoso, com longos bigodes e um nariz com borbulhas de beringela, soltou um "ha!" dilacerante e virou o carro. O sal espalhou-se. O camelo soltou uma praga a que o capataz correspondeu com um rosário de injúrias. Ambos tiveram um sorriso satisfeito e ambos se voltaram para mim ao mesmo tempo.
- Então que queres? - perguntou o capataz.
- He! Homem do Norte, vens para as salinas para comer presunto? - comentou o camelo piscando-lhe o olho.
Comecei a pedir ao capataz que me admitisse, garantindo que me habituaria e não puxaria o carro pior do que os outros.
- Oh!, quanto a isso, aqui, antes que te habitues terás quebrado a espinha. Faz-te bem, que Deus te tenha na sua santa guarda, chega-te cá! No primeiro dia não te darei mais que meio rublo. He, lá, dêem-lhe um carro.
Um rapazote apareceu vindo não sei de onde, vestido apenas com uma camisa e uns trapos sujos que lhe envolviam as pernas até aos joelhos; lançou-me um olhar céptico e disse, entre dentes:
- Anda daí.
Segui-o até um monte de carros empilhados; pus-me a procurar o mais leve. O rapaz coçava as pernas e observava-me em silêncio.
- Por que é que pegas nesse? Não vês que tem uma roda torta? - disse ele no momento em que eu ia pegar no carro que me parecia o melhor; depois afastou-se com indiferença e estendeu-se no solo.
Depois de ter escolhido outro carro, pus-me na fila e fui buscar sal; oprimia-me um sentimento vago e acabrunhante que me impedia de interrogar os camaradas acerca do nosso trabalho. Todos os rostos, apesar da fadiga que os marcava, exprimiam uma irritação abafada, por agora ainda dissimulada. Todos estavam atormentados, cheios de furor contra o sol implacável que lhes queimava a pele, contra as pranchas que vacilavam sob as rodas dos carros, contra a "rapa", aquela vasa feroz, espessa e salgada, misturada com cristais pontiagudos
113
que rasgam os pés e seguidamente roem as feridas até as transformar em chagas, contra tudo o que os cercava. Este furor revelava-se pelos olhares torvos que lançavam uns aos outros, pelas injúrias violentas e venenosas que, de vez em quando, se lhes escapavam das gargantas inflamadas pela sede. Ninguém me prestava atenção. Logo que entrávamos no quadrado, dispersavamo-nos com os nossos carrinhos ao longo das pranchas dispostas em cruz em direcção aos montes de sal lamacento; na primeira vez alguma coisa me bateu contra o calcanhar e, voltando-me, recebi em pleno rosto esta exclamação maldosa:
- Tira as patas, maldito trangalhadanças!
Tirei as patas rapidamente e, empurrando o meu carro, comecei a enchê-lo com uma pá.
- Mais cheio do que isso - ordenou o gigante meridional que estava precisamente a meu lado.
Enchi-o quanto pude. Nesse momento os de trás comandaram aos da frente: "empurra!" Cuspiram nas mãos, empurraram, gemendo, os carros, novamente curvados quase em ângulo recto, peito para a frente, o pescoço estranhamente alongado, como se essa posição pudesse aligeirar o labor.
Notando todos aqueles gestos, imitei-os, exactamente, curvando-me e alongando-me tanto quanto me era possível; ergui o varal do oarro: a roda soltou um gemido estridente, senti uma dor lancinante ao nível das clavículas, os braços em extrema tensão começaram a tremer... e, oscilante, dei um passo, outro, fui impulsionado para a frente... a roda do meu carro abandonou a prancha e fui precipitado para a lama onde tombei em cheio, de nariz. O carro bateu-me com a varal na nuca, como que para me dar uma lição, depois voltou-se preguiçosamente. Os assobios ensurdecedores, os clamores, as gargalhadas que acolheram a minha queda, mergulhavam-me ainda mais, parecia-me, na vasa morna e espessa; chafurdando, tentando em vão erguer o carro mergulhado, senti algo de frio e agudo cortar-me o peito.
- Eh! Amigo! Ajuda-me! - disse eu, dirigindo-me ao meu vizinho, o rapagão meridional, que ria a bandeiras
114
despregadas, segurando a barriga e sacudindo todo o corpo.
- Oh!, filho da puta... ah, ah! Não estás bom? Sobe-o para a prancha! Inclina o carro para a esquerda. Ah, ah! Que a rapa ta engula! - recomeçou a rir. Sufocava, chorava com as gargalhadas, segurava as costelas.
- Avança pelas pranchas, estúpido! - gritou-me com um gesto de desespero o velho de cabelos brancos que me precedia, enquanto empurrava para a frente o seu carro, sempre a resmungar. Os da frente afastaram-se; os que estavam atrás de mim mantinham-se no lugar e olhavam-me com uma certa maldade; os meus esforços para arrancar o carro da lama tinham-me coberto de suor, e eu estava vestido com uma camada de vasa que escorria. Ninguém me queria ajudar. E a voz do capataz trovejava do alto da pirâmide.
- Que diabo é esse engarrafamento, bando de sacanas? Cachorros! Porcos! Quando o gato não está os ratos dançam? Filhos da mãe! Canalhas! Tratem de empurrar, cambada de pulhas.
- Desembaraça o caminho! - rugiu nas minhas costas o meridional; empurrou o carro e quase me bateu com ele na cabeça.
Ao ficar só, consegui, não sei como, libertar o meu carro e, como o sal se tinha espalhado e o transporte estava cheio de lama, fi-lo sair do quadrado na intenção de ir buscar outro.
- Então, meu velho, caíste? Não quer dizer nada, a primeira vez isso pode acontecer a toda a gente.
Olhei para o lado e vi atrás de um monte de sal, sobre uma prancha colocada em cima da lama, um rapaz novo (de cerca de vinte anos, acocorado, a chupar na palma da mão. Olhava-me por detrás da mão com olhos bons e sorridentes, fazendo-me sinal com a cabeça.
- Isto não é nada, meu velho! É uma questão de hábito.
- Que tens na mão? - perguntei.
- Olha, escorchei a mão e a ferida rói: se não se chupa tudo, é preciso largar o trabalho, isto dói como burro. Vai lá, vai lá, senão o capataz começa a gritar.
115
Fui. À segunda vez tudo correu bem; carreguei uma terceira vez, uma quarta, mais duas; ninguém me prestava atenção e eu sentia-me feliz com essa circunstância, embora em geral ela seja tão penosa para os homens
- Alto! À sopa! - gritou alguém. Todos foram almoçar, com um suspiro de alívio; mas
mesmo ali ninguém manifestou animação, alegria no repouso. Tudo se fazia como que contra vontade, com uma repugnância mal dissimulada, com cólera e rancor. Dir-se-ia que ninguém via nada de agradável no repouso dos ossos quebrados pelo trabalho e dos músculos esgotados pelo calor tórrido. Eu sentia uma dor violenta nas costas, nas pernas e nos ombros mas, esforçando-me por não o deixar transparecer, dirigi-me valentemente! para a comida.
- Espera aí! - deteve-me um velho operário, pés descalços, taciturno, que tinha uma blusa azul rasgada e um rosto igual, do mesmo azul que a blusa, com sobrancelhas espessas franzidas, sob as quais cintilavam, com um brilho cruel e zombeteiro, olhos vermelhos, congestionados.- Espera aí. Como te chamas?
Disse-lhe o meu nome.
- Ah, ah! O teu pai foi estúpido em te dar semelhante nome. Na nossa cantina não se admitem os Máximos no primeiro dia de trabalho. Os que se chamam Máximo, no primeiro dia, trabalham sem comida. É assim. Ah! Se o teu nome fosse João, ou qualquer outro, claro, seria diferente. Eu, por exemplo, chamo-me Mateus. Tenho direito ao almoço; mas se fosse Máximo teria de ficar a olhar. Desaparece para longe da comida.
Olhei-o com espanto; afastei-me e sentei-me no chão. Semelhante conduta a meu respeito desconcertava-me, era uma atitude que eu não provocava e que até então nunca tinha tido que suportar. Antes, como também depois, aconteceu-me mais do que uma dúzia de vezes empregar-me em qualquer parte e sempre me colocava imediatamente em bom pé de camaradagem. Mas desta vez tudo era inacreditavelmente bizarro e, a despeito de tudo o que a minha situação tinha de pesado e doloroso, a minha curiosidade estava formidavelmente excitada.
116
Decidi procurar a chave daquele mistério para mim apaixonante; uma vez tomada essa decisão, com o ar de observar tranquilamente os operários a almoçar, comecei a aguardar o recomeço do trabalho... Era preciso saber por que me tratavam assim.
117
118
II
Acabaram a refeição, arrotaram e puseram-se a fumar, afastando-se cada um para seu lado. O gigante meridional e o tipo pequeno de pernas enroladas em farrapos aproximaram-se e sentaram-se de maneira a ficarem colocados entre mim e a fila dos carros parados em linha em cima das pranchas.
- Então amigo? - perguntou o meridional.- Não tens vontade de fumar?
- Dá cá um! - respondi-lhe.
- Então não tens tabaco?
- Se tivesse não te pediria.
- Isso é verdade. Pega, fuma! - entregou-me o cachimbo.- E então, continuas a carregar sal?
- Tanto quanto puder.
- Muito bem. De onde és tu? Respondi-lhe.
- Ah! Ah! E isso é muito longe?
- Umas três mil verstas.
- Ena! Caramba! E por que vieste para aqui?
- Pela mesma razão que tu.
- Ah! Ah! Então também foste expulso da tua aldeia por roubo.
- O quê? - perguntei eu, sentindo que me aventurava por um precipício.
- Vim para aqui porque me puseram fora da minha aldeia, por roubo, e como estás a dizer que vieste pela
119
mesma razão que eu... - começou a rir, alegre com a sua astúcia.
O camarada dele mantinha-se em silêncio e piscava-lhe o olho, sorrindo maliciosamente.
- Espera aí... - comecei eu.
- Não há tempo para esperar, amigo. É preciso trabalhar. Anda daí, pega no teu carro e segue-me; o meu carro é bom e é seguro. Anda!
Partimos. Foi pegar no carro dele e disse-me:
- Espera, levo-o eu. Dá-me o teu e pomos o meu dentro. Vai passear de carro para descansar um pouco.
Esta amabilidade pareceu-me suspeita, e, caminhando a seu lado, examinei cuidadosamente o carro dele que seguia de rodas para o ar, desejoso de me convencer que não me tinham preparado uma partida desagradável; mas não notei nada, a não ser que me tinha tornado subitamente alvo da atenção geral, embora a tentassem dissimular sem grande resultado; via-a perfeitamente no frequente piscar de olhos, nos acenos de cabeça e no cochichar suspeito que me acompanhava. Compreendi que era preciso abrir os olhos e pus-me a esperar com muita vigilância qualquer coisa que, a julgar pelo começo, devia ser bastante curiosa.
- Chegámos - disse o meridional; retirou o carro dele e entregou-mo. - Enche o meu carro.
Lancei um olhar à minha volta. Todos trabalhavam com zelo e comecei a encher. Não se ouvia nada além do ruído do sal que caía das pás e aquele silêncio oprimia-me o peito pesadamente. Pensei que apesar de tudo o melhor que tinha a fazer era ir-me embora.
- Vamos, vamos, peguem nos carros! Que têm vocês para estar aí a dormir? Empurrem! - ordenou Mateus, o homem azul.
Segurei os varais do meu carro e, ao erguê-lo com esforço, empurrei-o... Uma dor aguda nas palmas das mãos fez-me soltar um grito selvagem e retirá-las do carro deixando-o cair. A mesma dor assaltou-me com violência redobrada; a pele das mãos tinha-me sido arrancada, rasgada pelos braços do carro.
A ranger os dentes de cólera e de dor, examinei os
120
varais, e vi que os lados tinham sido fendidos a martelo e as fendas guarnecidas com pedaços de madeira. Esse trabalho tinha sido feito de tal maneira que dificilmente se podia notar e a armadilha era muito hábil. Esperavam que, quando eu apertasse fortemente os braços do carro, os pedaços de madeira saltariam das fendas e enterrar-se-iam nas palmas das mãos. O cálculo tinha saído certo. Ergui a cabeça e olhei em redor. Os gritos, as gargalhadas e os assobios atingiam-me no rosto vindos de todos os lados; choviam as piadas cruéis, triunfantes. Do alto da pirâmide desciam as injúrias infectas do capataz, mas ninguém se ralava: só eu os ocupava. Passeei à minha volta olhares embrutecidos e insensatos e senti ferver em mim cada vez mais forte o sentimento da afronta, o desejo de vingança e o ódio por aqueles homens. Eles, aglomerados em multidão à minha frente, despejavam sobre mim zombarias e insultos.
Tive vontade apaixonada - uma paixão tão violenta que me doía fisicamente - de os ultrajar, de os rebaixar.
- Sacanas! - gritei, apontando-lhes os punhos cerrados e caminhando ao seu encontro; comecei a injuriá-los tão grosseiramente como eles o tinham feito.
Tiveram uma espécie de sobressalto e, perturbados, recuaram. Só o gigante meridional e Mateus, o homem azul, não se mexeram e começaram a arregaçar friamente as mangas das camisas.
- Anda, vem, vá, vá! - murmurava suavemente o meridional sem desfitar os olhos de mim.
- Dá-lhe a conta dele, pumba-zumba-trás, Gabriel!
- aconselhava Mateus.
- Por quê esses vexames? - gritei eu. - Que mal vos fiz? Por quê? Não sou um homem como vocês? - gritei ainda outras palavras, absurdas, miseráveis, acanhadas, maldosas, e sentia-me sacudido por uma raiva louca, velando porém, ao mesmo tempo, para não lhes dar oportunidade de uma nova partida à maneira deles. Mas aqueles rostos estúpidos, sem expressão, já não me olhavam com a mesma impassibilidade, nalguns deles passava-se qualquer coisa como que uma espécie de sensação de culpabilidade por aquela estúpida brincadeira.
121
O meridional e Mateus recuaram também. Mateus pôs-se a puxar pela blusa, o meridional a remexer nos bolsos.
- Mas por quê, digam lá? Por quê? - não cessava eu de perguntar.
Mantinham-se num silêncio melancólico. O meridional enrolava um cigarro e olhava para os pés. Mateus ficou de repente atrás de toda a gente; os outros começavam a regressar aos carros, coçando-se sem dizerem nada. O capataz avançava para o grupo, vociferando e ameaçando com os punhos. Tudo aquilo se tinha passado tão depressa que as mulheres que rapavam a duas dezenas de passos e que, como o notei, se tinham precipitado ao meu grito, só se aproximaram no momento em que os homens já se dispersavam para regressarem aos carros. Fiquei sozinho, com uma sensação amarga de vexame imerecido e impune que só servia para reforçar o vexame e a dor. Queria obter uma resposta às minhas interrogações e tinha sede de vingança. Gritei-lhes:
- Alto! Parem aí!
Pararam e olharam para mim com ar sombrio.
- Expliquem-me por que razão me atormentaram. Apesar de tudo vocês têm uma consciência.
Calavam-se, e era como se o silêncio me respondesse por eles. Então, um pouco mais calmo, comecei a falar-lhes. Comecei por lhe dizer que era um homem como eles, que tinha tanta vontade de comer como eles, que para isso tinha de trabalhar como eles e tinha ali vindo como se viesse ter com os meus, com pessoas que me eram próximas pela sua condição, que os não considerava inferiores nem piores do que eu...
- Somos todos iguais - disse-lhes - e devemos todos compreender-nos e ajudarmo-nos na medida dos nossos meios.
Ouviam-me atentamente, apertados à minha volta, mas evitavam o meu olhar. Notei que as minhas palavras agiam sobre eles e isso inspirou-me. Lançando os olhos à minha volta fiquei ainda mais convicto..Um sentimento de alegria viva e aguda invadiu-me e, atirando-me para cima de um monte de sal, comecei a chorar. Choraria por menos!...
122
Quando ergui a cabeça, não havia ninguém ali à volta. Tinha acabado o trabalho; e os carregadores, divididos em grupos de cinco e seis, estavam sentados lá adiante, ao lado da pirâmide de sal: as silhuetas perfilavam-se no fundo róseo do céu iluminado pelos raios de um poente com largas manchas informes e sujas. Tudo estava calmo. Uma brisa fresca soprava do mar. Uma pequena nuvem branca planava lentamente atravessando o céu, névoas leves e transparentes destacavam-se, depois desapareciam, dispersando-se no fundo azul. Todo o ambiente estava cheio de melancolia...
Levantei-me e dirigi-me para a pirâmide com a intenção firme de fazer as minhas despedidas e partir para o armazém dos pescadores. Quando me aproximei do grupo composto pelo meridional, Mateus, o capataz e três velhos e sólidos vagabundos, todos se levantaram para vir ao meu encontro e, antes que eu tivesse tido tempo para lhes dirigir a palavra, Mateus estendeu-me a mão e disse, olhando-me de frente:
- Bem, meu caro amigo: vais seguir o teu caminho e deixar-nos. Sim! E para a viagem... pega... arranjámos-te algumas moedas... Toma lá.
Tinha na palma da mão algumas moedas de bronze, e a mão tremia-lhe enquanto mas oferecia. Perdi a compostura, olhei-os sem compreender nada do que estava a acontecer. Estavam de pé, com a cabeça baixa, em silêncio, compunham sem necessidade e sem habilidade os andrajos, puxavam por eles, balançavam, olhavam de lado, e tudo neles, todos os movimentos, exprimiam uma extrema perturbação e o desejo de acabar com aquilo o mais depressa possível.
- Não quero!-disse eu, recusando as moedas da mão de Mateus.
- Pega neles, se não nos queres ofender. Bem, que somos nós? Nós para te falar com o coração nas mãos, não víamos nada daquilo que fazíamos... Nós, meu amigo, percebemos perfeitamente que te fizemos mal; mas se considerarmos bem, foi mesmo verdade? Não, meu caro, nada disso. Porque a verdadeira culpada é a vida. O que é a nossa vida? Uma galé! O carro que pesa duzentos
123
e sessenta quilos, a rapa que rasga os pés, o sol que coze como fogo todo o dia e este pago a meio rublo. Acaso não é bastante transformar as pessoas em animais? Trabalha-se, trabalha-se, bebe-se o salário e volta-se para o trabalho. Mais nada! Quando se viveu cinco anos neste regime, pensa bem, perdeu-se até o aspecto humano - a pessoa transforma-se num animal feroz. Nós, meu velho, ferimo-nos a nós próprios bem mais dolorosamente do que a ti, e no entanto conhecemo-nos todos uns aos outros ao passo que tu és um estranho... Por que razão teríamos pena de ti? Isto é assim! Falaste, há pouco... de toda uma série de coisas, mas quê? Claro, tudo aquilo era bem arrancado... e possivelmente verdade... Mas, pensa bem, aqui não é um sítio para isso. Não te zangues... Era para gracejar. Apesar de tudo temos um coração... Sim, temos! Vai então para onde te apeteça, com a tua verdade, e nós ficaremos aqui com a nossa. Vá, pega no dinheiro. Adeus, amigo. Não somos culpados para contigo, nem tu para connosco, as coisas correram mal, foi isso. Agora basta. O que é bom não é para nós. E tu não és feito para ficar aqui. Poderias acamaradar connosco? Nós, meu velho, estamos ligados uns aos outros, deste modo, e vieste aqui meter o nariz, levianamente... Não podia sair nada de bom... Deixa-nos, é o melhor! Segue o teu caminho. Adeus.
Olhei à minha volta e adquiri a certeza de que todos estavam de acordo com Mateus e, lançando a minha mochila para as costas, preparei-me para partir.
- Espera aí, homem! Deixa-me dizer também uma palavra- disse o meridional, tocando-me no ombro. - Se tivesse sido com qualquer outro e não contigo, as minhas botas far-te-iam a despedida. Entendes? E a ti deixam-te ir embora sossegado e ainda te dão dinheiro para o caminho. Devias agradecer. - Cuspiu para o lado e começou a rodar o anel à volta do dedo, olhando à sua volta com ar vencedor, como se quisesse dizer: admirem como sou inteligente!
Esmagado por todas essas impressões, apressei-me a despedir-me e voltei pela praia ao armazém onde tinha passado a noite. O céu era puro e canicular, o mar deserto e majestoso, as vagas verdes vinham rolar aos meus pés
124
com estrondo... Senti, não sei porquê, uma dor e uma vergonha insuportáveis. Caminhei a passos lentos e cansados pela areia. O mar faiscava sob o sol, as vagas discutiam entre si qualquer coisa incompreensível e triste... Ao aproximar-me do armazém, o meu amigo, o pescador, levantou-se para me acolher e com o tom triunfante de alguém que vê realizarem-se as suas previsões, exclamou:
- Então, meu velho, foi salgado? Olhei-o e fiquei calado.
- Oh! Oh! Estou a ver, um bocado salgado demais!
- prosseguiu ele, seguro de si, examinando-me. - Tens fome? Come um bocado de sopa de peixe! Está aí sopa que dava para um regimento... Ficou mais de metade... Vá, sopra na colher! Uma sopa estupenda... com linguado e esturjão.
Dois minutos depois estava sentado à sombra do armazém, muito sujo, muito fatigado, esfomeado e comia, com o coração cheio de tristeza e de dor, sopa de esturjão e linguado.
125
126
VINGANÇA
PARALELO
Bang! O som voou do sino e enfiou pela garganta, dissolvendo-se melancolicamente. Um segundo, um terceiro... e a onda de bronze escoou-se para o triste cume dos montes que contemplavam calmamente e majestosamente o céu profundo, azul, sem nuvens.
O mais alto dos montes ostentava um sumptuoso boné de neve, e agora, sob o raio de despedida do poente, faiscava como ouro vermelho. Mas ele, o último raio, não cessava de empalidecer; e a garganta, cujas ribas suportavam aqui e além algumas cabanas de montanheses, tornava-se cada vez mais sombria. No fundo corria, salpicando, uma pequena torrente cuja água tinha, na penumbra, o brilho frio do aço; e o ruído da corrente não era de modo algum vivo e alegre, mas sim desesperadamente triste, e transmitia por vezes ruídos estridentes e perversos. Misturavam-se com o som do sino que os engolia...
No alto, o poente estava quase extinto, e a garganta tinha-se tornado igual a uma enorme goela, escancarada, pronta a devorar o dia que se consumia. O pequeno lugarejo georgiano que ali se ocultava ainda não dormia: subiam de lá, de tempos a tempos, ruídos de vozes e balidos... E quando o velho Máximo Guadré os ouvia, escondido lá no alto, atrás de um rochedo, batia com o dedo no cano brilhante da sua espingarda e lançava, sob
127
as espessas sobrancelhas brancas, um olhar agudo à aldeia, lá no fundo, de onde subia o som metálico dos sinos e o murmúrio colérico da torrente. O tempo parecia-lhe insuportavelmente longo e estava pronto a acreditar que aquele dia fazia de propósito ao extinguir-se tão lentamente, porque o queria impedir, a ele, um velho, de pagar uma antiga dívida, a dívida do sangue... Mas não! Nada lho impediria. A sua decisão estava tomada e atingiria os seus fins ainda que fosse obrigado a esperar uma semana, ali deitado, entre as pedras, acima do precipício e do caminho de cabras que lhe debruava, como estreita fita, o rebordo abrupto. Quando o outro, aquele cachorro amaldiçoado, o tomasse para ir para a montanha, ele, o velho, apertaria nas mãos a sua bela espingarda e mandar-lhe-ia ao flanco esquerdo, em pleno coração, uma única bala. Isso bastaria para o atirar abaixo do cavalo, no precipício, e daquele demónio não restaria um osso inteiro.
Romanoz vatua! O velho Máximo imagina o grito que aquele Gvatua lançaria, o assassino do seu filho, como atiraria a cabeça para trás e tombaria no precipício... tombaria, sem dúvida alguma, dada a extrema estreiteza do caminho naquele local. Teve um sorriso alegre e pôs-se a observar o fundo da ravina através da névoa flutuante do crepúsculo. Lá no fundo havia pessoas que saíam das cabanas, tão pequenas, tão cómicas, e iam umas atrás das outras para a igreja onde as chamava o sino persuasivo.
A torrente continuava a rugir e a vaga de sombra que aumentava de espessura mal deixava aperceber a fita prateada da água. O velho Máximo seguiu-a com os olhos até que ela desapareceu entre as pedras; depois, tirando o boné de pele, pôs-se de joelhos.
- Meu Deus! - disse ele em voz baixa. - Sabes o que vim fazer, e eu também o sei. Não me impeças, Senhor! O que tem de ser, será; ajuda-me a levar a acção a cabo se a tua misericórdia está comigo. Sabes bem que amor eu dedicava ao meu filho, ao meu belo Vano, e viste-lo deitado por terra, sangrento, comigo a chorar sobre o corpo; esse bandido desse Romanoz tinha fugido para
128
as montanhas com aquele mesmo punhal com que o tinha assassinado. Viste tudo isso e não puseste qualquer obstáculo. Não me impeças de agir por minha vez, meu Deus! És justo e sê-lo-ás eternamente; quando eu chegar diante de ti, - sou velho, não tardará muito - julgar-me-ás segundo a Tua justiça! Amanhã é o Teu dia
- perdoa-me!
Ficou ajoelhado mais alguns momentos, voltou a pôr o boné na cabeça, pegou na espingarda e recomeçou a prescrutar o fundo da ravina.
Acima do precipício as estrelas acendiam-se uma a uma, o céu tornava-se mais baixo e adquiria uma tonalidade mais suave, aveludada; a lua subia lentamente, por detrás dos picos nevados que agora brilhavam com um clarão azul prateado; um abrunheiro vigoroso cochichava baixinho no vento; o carrilhão calou-se, o último toque do sino vibrou longo tempo por cima da ravina, procurando o local onde ia morrer; as rochas selvagens repeliam-no e acabou por desaparecer, perdido entre as chaminés e as fendas dos montes. Em baixo alguém começou a dedilhar uma tchangura; cantava-se uma canção que era um queixume acariciador... e aos ouvidos do velho Máximo ora chegavam os acordes melodiosos das cordas metálicas, ora as súplicas e os lamentos do cantor. Relatava com voz doce e flexível a dor de ter perdido não se sabia o quê, suplicava chorando que isso lhe fosse devolvido. Cantava o seu jovem coração roído pelo desgosto e pela dor, as cordas vibravam e cantavam com ele, ora o acompanhando em surdina, ora o cobrindo com uma música possante, arrebatada. No fundo de tudo estava agora tão negro que já não se via a fita da torrente nem as manchas cinzento-claro das cabanas no fundo castanho-escuro dos rochedos: nada mais, além de duas luzes de um vermelho amarelado que tremiam preguiçosamente no fundo das trevas.
O velho Máximo deixou o abrigo dos rochedos, ergueu-se apoiando-se nos braços e, retendo a respiração, apurou o ouvido.
- É ele que canta! É a voz dele, a voz manhosa, a voz de raposa; enternece o coração dos que lhe
129
escutam os trémulos e os agudos, depois torna-se seca e dura como o tilintar de um punhal. É ele, é vatua que canta. Demorarás muito? Virás depressa, maldito? - silvava Máximo entre dentes, o olho vigilante, esforçando-se por descortinar através das trevas as voltas do caminho que da aldeia conduzia até ao alto.
No fundo, tinham cessado o canto e a música. A canção tinha-se interrompido no meio; a última nota tinha sido muito alta e pretendia sê-lo ainda mais, mas ao cantor tinha faltado o fôlego ou a voz, e esta tinha-se quebrado com estranha nitidez, sem eco; dir-se-ia que tinha caído no meio da torrente e que esta a engolira sob a espuma. Um frémito pensativo manteve a vibrar, ainda por algum tempo, as cordas da tchangura. Depois também se calaram.
Ouviu-se uma gargalhada, o relincho de um cavalo, um "uh" vigoroso e impaciente que repercutiu pesadamente pela ravina... Os cascos de um cavalo martelaram! as pedras; percebia-se a respiração do animal e o ruído dos seixos rolando para o precipício. "Ei-lo! É ele, é ele! O velho agarrou a arma, estendeu-se, pousou o cano em cima de uma pedra e manteve-se em sossego: agora vai fazer uma das curvas, uma outra, vai ficar detrás, depois diante, subir, recomeçar: o caminho não cessa de voltar, ora para um lado, ora para o outro e nenhuma recta, entre duas curvas, atinge mais do que trinta passos de cavalo. Até que ele chegue à altura do cano da espingarda ainda há tempo para rezar duas curtas preces... E o velho, tirando à pressa o boné de pele, começou a recitar em voz baixa, com os olhos no céu, fazendo concordar o comprimento das orações com o ruído dos passos do cavalo...
- Ei-lo! A prece está acabada...-As mãos do velho! apertaram a arma; inclinou-se para a frente na pressa apaixonada de ver o assassino do filho. - Ei-lo! !
"Não se pode amar sem que o coração sofra...",! cantava o cavaleiro surgindo bruscamente por detrás de um grande rochedo anguloso que forçava a curva do caminho. O cavalo martelava lenta e regularmente as pedras com as ferraduras, sacudia a cabeça e a crina!
130
espessa erguia-se e recaía sobre os belos arreios... O cavaleiro mantinha-se na sela com à vontade. Tinha o rosto levantado e olhava o céu onde brilhava uma miríade de estrelas que faiscavam vivamente; cantava em surdina, com as rédeas numa das mãos e a outra a marcar o compasso batendo contra a bainha do punhal: "Para quê chorar meu coração? Mais vale amar outra..."
O velho olhava, apertando os maxilares e seguindo com a ponta da espingarda a elegante silhueta do assassino do filho inundada pelo luar. Apertava-lhe o coração uma alegria selvagem, apetecia-lhe gritar, lançar-se sobre ele, rasgá-lo com os dentes e as unhas, torturar aquele belo rapaz amado pelas mulheres, tão temerário e altivo. Vario era igual a ele.
- Ah! Sentes-te orgulhoso na tua sela! Espera aí! Aproxima-te, aproxima-te! Maldito!... - murmurava Máximo.
O outro cavalgava cantando: "E se essa te engana, haverá uma terceira..." O velho Máximo saltou como um gato para o caminho, à frente do focinho do cavalo e gritou, apontando a espingarda:
- Gamardjoba, Romanoz! Apanhei-te, maldito! Como que atingido por uma bala o cavalo assustado
empinou-se: o cavaleiro soltou um grito selvagem, as pedras sob as pernas do cavalo rolaram precipitadamente para o abismo e, na sua sequência, o próprio cavalo com Romanoz, convulsivamente agarrado ao seu pescoço! O velho não teve tempo de apoiar o dedo no gatilho. Baixou a arma, levou a mão à fronte coberta por espessos tufos de cabelos e aproximou-se da beira do caminho. No abrupto declive ainda rolavam pedras e no meio do ruído que a queda provocava distinguia-se o fraco grito de dor, meio-gemido, meio-relincho, do cavalo. A lua e as estrelas brilhavam com o mesmo cintilar tranquilo e puro, embora tivessem assistido a toda aquela cena. Na beira do caminho erguia-se o velho Máximo, apoiado na espingarda, olhando para baixo. Estava terrivelmente escuro. O abismo aparecia eriçado de rochas agudas, entre as quais havia aqui e além magros arbustos; a seguir
131
tudo se fundia numa única sombra opaca, profunda insondável, de onde subia suavemente o lamento do cavalo. Da aldeia chegava o barulho da torrente, agora mais abafado: a noite pesava em cima dele; nada mais se distinguia em parte alguma; nem um som.
-Pronto! - disse o velho em voz baixa. Soltou um suspiro, pôs a arma ao ombro, depois pousou-a no chão, ajoelhou e disse em voz alta:
- Obrigado, meu Deus, por não teres permitido que eu sujasse as minhas mãos com o sangue impuro do meu inimigo e por o teres castigado tu próprio precipitando-o no fundo do abismo. Está agora em pedaços. Obrigado, meu Deus!
Depois disso tomou o caminho para o alto dos montes. Banhada pela suave luz prateada do luar a alta silhueta era de uma beleza sobrenatural e o cano liso da espingarda faiscava com um brilho frio. O velho caminhava de pedra em pedra com um passo firme e tranquilo e depressa desapareceu atrás dos rochedos. Tudo se tornou mortalmente calmo, e o ruído abafado da torrente sublinhava ainda mais aquele silêncio. Os raios da lua caíram no caminho através dos ramos do abrunheiro e das tenazes giestas que cresciam entre as rochas desenhando nelas rendas de sombra; rastejavam como seres vivos, subiam e desciam agitando os ramos ao menor sopro... e eis que uma vez mais - a última - subindo do precipício cheio de sombra até às margens, soou na noite o lamento do cavalo esmagado nas rochas agudas, meio-gemido, meio-relincho.
132
- Os viajantes para Aliocki! Para Aliocki!
É o grito dos passadores que transportam mercadorias e passageiros de Kerson para Aliocki - doze verstas no Denieper e no seu sinuoso afluente coberto de canaviais, o Koniok.
- Viajantes para Aliocki, para Aliocki!
Os últimos raios de sol avermelhavam por um momento os cimos dos choupos na outra margem, em frente da cidade, depois deslizaram sobre as ondas rápidas do rio e desapareceram. O céu tornou-se estranho. A sombra ténue e delicada da noite pousava suavemente sobre a cidade, o rio e as árvores que o marginam, enquanto na margem citadina os mercadores de levante apressavam-se a arrumar as suas mercadorias. Os grandes cestos de tomates escarlates misturados com as beringelas violeta escuro, a verdura da salsa, as cenouras, tudisso se empilhava rapidamente, deixando em seu lugar tristes placas de terra negra; a margem esvaziava-se; os barqueiros chamavam os viajantes; os barcos não cessavam de deixar a margem, cheios de cestos e de pessoas; o ar enchia-se com o ruído das vozes e dos remos a bater a água; um após outro, desapareciam na curva do rio. e com a sombra pousava-se em todas as coisas o selo da lassidão.
133
Na cidade começavam-se a acender as luzes, surgiam bruscas e alegres, ora aqui, ora ali, e no céu também se acendiam umas atrás das outras as estrelas.
Já não havia quase ninguém na margem; apenas algumas silhuetas escuras corriam à pressa da direita para a esquerda, depois desapareciam também como se fossem absorvidas pela sombra.
Quatro barqueiros tinham ficado sem clientes. Três deles estavam sentados nos barcos respectivos: um à popa, os outros dois no meio, no banco, voltados para o rio. Cantavam qualquer coisa, pensativamente, como que sem dar por isso. Um cantava e durante esse tempo o outro ficava silencioso; quando o primeiro se calava, interrompendo por vezes a canção no meio de uma nota, o segundo retomava-a, continuava a canção baixinho, com melancolia, e interrompia-se do mesmo modo, com a mesma lassidão; então o primeiro recomeçava a cantar, e o canto desenvolvia-se numa fita suave e contínua acima das ondas de brilho frio e mate; as ondas marulhavam na margem, faziam-lhe eco com voz sonolenta.
O terceiro, o que estava sentado à popa, acendeu um cigarro. A minúscula brasa ora se avivava, ora baixava, e quando se tornava mais viva iluminava o grosso nariz vermelho, as faces cobertas de verrugas e os espessos bigodes amarelados do fumador.
O quarto estava em pé, na margem, afastado, apoiado a um remo, e olhava na direcção da cidade. O acendedor de lampiões surgiu das trevas e acendeu apressadamente um deles; um raio de luz caiu em cheio na silhueta do barqueiro. Era um homem de pouca estatura, orçando pelos quarenta e cinco anos, de braços musculosos, nus até ao cotovelo; vestia uma camisa vermelha, com o colarinho desabotoado, que lhe deixava ver o peito cabeludo e vigoroso; tapava a cabeça com um velho chapéu de palha, e sob as suas abas dilaceradas prescrutava uma rua pobremente iluminada que mergulhava no coração da cidade.
Um homem avança em direcção à margem com passo estugado e vigoroso; assobia alegremente, enquanto
134
caminha. Desce agora a escada do cais; o barqueiro avançou ao encontro dele.
- Tome o meu barco, Excelência, por favor! Não sou um desconhecido, dê-me esse prazer.
- bom. A Excelência, em virtude do nosso conhecimento, tomará o teu barco. Mas anda depressa.
- Ficará satisfeito; já não é a primeira vez que o passo.
- Sim? Bem, vamos lá.
O cliente saltou para o barco com facilidade. O barqueiro empurrou-o pela borda, saltou para a frente sem grande jeito e sentou-se aos remos. O barco mexeu-se, o cliente oscilou; os remos batiam cadenciadamente a água que murmurava suavemente à proa. As árvores alongavam para o rio as sombras pensativas, e o luar, alternando com elas, pousava na água delicadas manchas prateadas. O barco entrou num afluente estreito de margens bordadas com longos caules de canaviais murmurantes; deslizava quase sem ruído em cima da água adormecida. O remador atirava os remos bastante para trás e as gotas de água escorregavam e caíam no rio com um ruído suave e agradável. O céu contemplava a terra com os seus milhões de alegres estrelas, cujo reflexo na água lisa como um espelho cintilava de uma maneira triste e frágil. Mas em redor tudo era paz acariciadora e amável. O cliente tinha tirado o chapéu e, estendido ao comprido, à popa, misturava sonhos e reflexões. Este rio, os canaviais nas margens, e as árvores de ramagens fartas e negras atrás deles: como tudo aquilo era delicioso sob a luz maravilhosa e acolhedora da lua! A noite ainda agora nascida, tão fresca, tão pura; as sombras que ela confere a todas as coisas à sua volta oscilam docemente; respira-se amplamente e não se tem vontade de pensar em nada, a não ser no que é bom. A vida... é isso, a vida! O barco desliza silenciosamente sobre a água parada, o murmúrio dos canaviais embala o coração, e só uma tábua nos separa do fundo do rio. Tudo é simples; conclui-se que é preciso viver o mais intensamente possível, sem a preocupação de viver até ser o mais velho possível; é melhor
135
beber uma garrafa de champagne que cinco de vinho tinto...
O remador olhava o belo rosto branco e delicado do senhor que sonhava, e remava com vigor, fazendo deslizar o barco de vez em quando para a direita, depois para a esquerda. Este afluente dividia-se em vários braços, formando ilhotas cobertas de arbustos, e do meio dos matos erguiam-se para o céu as tochas imensas dos choupos e os salgueiros chorões baixavam tristemente para o solo os ramos flexíveis.
O cliente pensava que era jovem e amado, que se dirigia para um encontro com aquela que amava e que o esperava impacientemente num pequeno pavilhão afogado na folhagem verde dos lilazes e das acácias. Ali tudo era acolhedor e belo, o perfume das flores que vinha do jardim entrava em ondas pela janela aberta, onde se enquadrava o céu de veludo anil. Ela sentar-se-lhe-ia nos joelhos, cercando-lhe o pescoço com os esplêndidos braços brancos, olhá-lo-ia com olhos apaixonados, contemplaria sonhadoramente o jardim escuro e o céu, depois estremeceria sob um arrepio de suave amargura, apertá-lo-ia com força contra si e beijá-lo-ia uma vez mais, uma vez mais...
Há pessoas que acham tudo isso cómico. Sim, semelhantes pessoas existem... são infelizes, inspiram piedade. E talvez afinal elas zombem apenas porque experimentam violentamente no fundo do coração o desejo de sentir tudo aquilo, e nunca o conseguiram. Ah! Deve-se ter duplamente pena delas, então!
- Chegámos! - disse o barqueiro em voz alta, cessando de remar; tirou um remo do tolete e pegou no outro.
- Foste rápido! Obrigado! - respondeu o cliente. Procurando moedas nos bolsos olhou à sua volta.
- Que quer dizer isto? - perguntou ele espantado.
O barco estava imóvel no meio de um vasto lago; a água parada, de um negro absoluto, tinha um brilho frio; em redor, nas margens, as árvores formavam um muro contínuo, e nos sítios onde a sua sombra se estendia até à superfície da água, esta parecia de uma profundidade insondável. O silêncio reinava. Os canaviais não
136
murmuravam; um sino tilintava algures; as badaladas eram fracas, quase imperceptíveis, passavam acima da água como um suspiro e iam morrer na massa escura das árvores imobilizadas; reinava um silêncio terrível. O cliente estremeceu.
- E a cidade? A cidade? - perguntou ele com uma segurança que soava a falso.
As margens responderam em eco: "A cidade!" O barqueiro ergueu-se com o remo nas mãos.
- A cidade ainda está longe. Não temos lá nada que fazer. Crê em mim, faz as tuas orações, prepara-te... porque te vou aplicar uma boa pancada na cachimónia... e mandar-te desta para melhor. Vamos lá.
Pôs o remo ao ombro. O tom da voz era abafado mas resoluto e duro.
O cliente deixou-se cair no banco e, gemendo baixinho, agarrou a cabeça com as mãos.
- Vamos, vamos! Mais depressa, se queres morrer como um cristão. Quantos pecados tens na consciência? Lembras-te? Reza as tuas orações! E rápido!
O homem estremeceu e levantou a cabeça. A volta o silêncio era pavoroso, nada mexia, estava tudo morto, os sons do sino ainda suspiravam, flutuavam acima da água um após outro - e eis que o último estava morto.
Caía água do remo, gota a gota... Um... dois... dir-se-ia que elas contavam os últimos minutos de vida do homem.
O barqueiro mantinha-se em pé numa atitude severa de expectativa; com a mão livre coçava serenamente a barba. Tinha o aspecto de um carrasco e de um juiz ao mesmo tempo.
E à volta nem um ruído.
O homem pôs-se a gemer, estendendo os braços para a silhueta negra e lúgubre que, com o remo ao ombro, se erguia diante dele.
- Mas por quê?, diz-me por quê!... Pega todo o meu dinheiro... todo... não me mates!... Toma!
Os gemidos passaram por cima da água e perderam-se, sem deixar traços, na sombra e no silêncio.
137
O barco oscilou. O barqueiro mudou o peso do corpo para o outro pé. E começou a falar com o mesmo tom abafado e calmo:
- Queres então que te diga por quê, ó podridão que tu és? Lembras-te da Katiucha, a que era criada em casa da tua mãe? Lembras-te, miserável? Quem lhe fez um filho? Não foste tu, se calhar? Kátia era minha filha. Percebeste agora? Ah!, pagão, percebeste? Prepara-te, já te disse, e depressa, senão dou cabo de ti assim mesmo. Não terás tempo sequer para suspirar.
O homem, apavorado, fixava no rosto aquele que lhe falava assim, e via que estava impassível, glacial, os lábios apertados num esgar. Não seria tão terrível se revelasse a marca dos sentimentos que as palavras exprimiam: o ódio e a zombaria.
O homem começou a tremer e pôs-se a chorar, abatido aos pés do barqueiro. O barco oscilou, círculos partiram pela superfície das águas... dir-se-ia que a água sorria, com um longo, sombrio e terrível sorriso. O passador sentou-se, e, pousando o remo nos joelhos, olhou longamente o homem que a seus pés se torcia como um verme, e ouvia-lhe as súplicas desesperadas e os soluços.
- Deixa-me viver. Se me matas serás descoberto e também estarás perdido. Deixa-me!... dar-te-ei tudo o que tenho... e depois darei ainda mais... tudo o que quiseres! Sabes que sou rico... Deixa-me! Não me mates, meu amigo.
- E a minha filha, que faz ela no meio disto tudo? Hoje faz a vida com os senhores oficiais. Ontem deixaram-na em sangue. Sabes disso? E quem a empurrou para a lama onde quem quiser a pode desfigurar? Ha? Responde, maldito cachorro!
O cliente, deitado no fundo do barco, emudecera; e agora o barqueiro calava-se também, olhando-o com um sorriso irónico.
O primeiro não se movia; o segundo voltava-se para um lado, depois para o outro, o barco balouçava, e sobre a água partiam para a margem aqueles sombrios e gélidos sorrisos..., nas margens as árvores começaram a sussurrar e a água foi subitamente percorrida por um arrepio;
138
as rugas pareciam uma careta da água para não se libertar numa gargalhada estridente.
- Vá! Basta de choraminguices! Quanto dinheiro tens contigo?
O homem pôs-se de joelhos à pressa, tirou do bolso um maço branco, começando febrilmente, arquejante, a tentar metê-lo nas mãos do barqueiro.
- Pega!... É tudo o que tenho... depois arranjo mais... setenta e três rublos... Pega também no meu anel... O meu relógio... Olha, isto são uns brincos... Levava-os para dar de presente... toma, meu caro amigo! Mas por amor de Deus, deixa-me! Tenho vontade de viver!... Meu caro, ha, deixas-me viver?
- Cala-te! O dinheiro, bom, ficarei com ele, mas o resto são umas porcarias... Que posso fazer disso? Não sou um ladrão, eu. Não percebo nada de roubos, não é a minha profissão, não conheço receptadores, tenta-se vender e é-se apanhado. É assim...
- E o dinheiro? Queres o dinheiro? Quer dizer que não me matas, hem?... Sê bom, diz-me, não me tortures.
- E Kátia? - perguntou o barqueiro.
"Kátia?" repetiram interrogativas as árvores pelas margens.
A água sorria num esgar... a pergunta acerca de Kátia ficou sem resposta.
O homem deixou-se cair outra vez, pesadamente, e estendeu-se no fundo do barco com a cabeça entre as mãos.
O barqueiro pegou no remo, olhou-o e cuspiu nas mãos... Depois olhou para o homem a seus pés e sorriu abertamente... com um movimento correcto e poderoso enfiou os dois remos nos toletes de uma só vez - e o barco mexeu-se. Um arrepio percorreu a água, um, dois, três... Os remos recomeçaram a sua tarefa em cadência, e o barco deslizou como uma flecha sobre a água lisa, semelhante a um espelho, que sussurrava suave e alegremente.
O outro homem não fazia um gesto.
- Então, amigo, levanta-te! Já é tempo. Não tenhas medo, ninguém te fará mal, eu estava a brincar. Acreditas
139
então que se pode matar um homem com esta facilidade? Não, meu caro, é um problema importante, não é coisa para a nossa mão. Quanto ao medo que te causei, peço-te desculpa. Que queres, é a nossa miséria que faz tudo isto, a nossa vida infernal, que o diabo a carregue. Apesar de tudo tiveste um medo terrível, ha? Ah! Ah! Ah!
O riso era infantil, o riso barulhento, de um homem alegre.
O outro deu um salto e ficou sentado no banco, fixando no barqueiro olhos marcados pelo espanto. Este abandonou os remos e continuou a rir, segurando as costelas, com a cabeça atirada para trás.
- Ouve!...- disse o homem em voz baixa. - Quer dizer que tudo aquilo era...
- Era o quê? Estava a gracejar, homem! Era uma coisa que se via logo. Um homem pode suprimir outro? Claro que não. Eu tinha necessidade de te arrancar algumas moedas. Se tivesse ido ter contigo, o mais que poderia apanhar era uma moeda de cinco rublos, e adeus! Mas eu tenho faro e assim recebi setenta e três rublos! Como a vida está hoje não me chegariam dez meses para ganhar este dinheiro. Quanto ao assunto de Kátia, caramba, não me parece grande desgraça que ela esteja com os oficiais. Ora, ora, para mim é uma vantagem, vou ter com ela e digo-lhe: "Kátia, tem pena desta velha pele de tambor" e ela responde: "Meu querido papá toma, aqui tens uns copeques". Ha! Serviste-te dela e depois? A quem é que isso fez mal? Eu, aqui onde me vês, também não deixava em paz as raparigas da espécie dela....
O homem olhava e sentia-se invadido por um doloroso sentimento de rancor, um desejo de vingança. Lamentou amargamente não ter consigo um cacete ou um revólver. Teria suprimido aquele crápula.
E o crápula triunfava e cada uma das suas palavras e dos seus gestos exprimia esse triunfo com ostentação.
- Aí está a cidade. Chegámos. Onde queres acostar?
- Qualquer sítio. O mais depressa possível - ordenou ele com voz forte.
- Muito bem, muito bem, será rápido... Deus o acompanhe, meu senhor!
140
O barco tocou na margem. O passageiro levantou-se e saltou para terra. O barqueiro tirou o chapéu e desejou-lhe boa viagem tranquilamente, com toda a seriedade O passageiro olhava-o e murmurava com ódio: "Vai-se embora! Vai-se embora!..."
- Crápula! - gritou ele ao barqueiro, afastando-se da margem. - Filho da puta! Vendeste a tua própria filha por setenta e três rublos! Miserável ladrão!...
Do barco, que se afastava lentamente, veio uma voz cheia de indiferença:
- Devias ter começado a insultar um pouco mais cedo, meu caro. Nessa altura os teus insultos teriam algum significado. Mas agora, que querem dizer, que súbita esperteza foi essa?
O outro gritava, furioso, com todas as forças:
- Hei-de voltar a encontrar-te! Hei-de voltar a encontrar-te, assassino! Porei a polícia toda à tua procura.
Do rio veio esta resposta:
- bom, bom! Manda lá a polícia, depois veremos, meu caro! Entretanto, adeus!
Aquele "adeus" lançado com voz de trovão, rolou nos ares durante muito tempo.
O homem ficou imóvel um momento, depois, enterrando o chapéu nos olhos com um gesto nervoso, afastou-se com passos rápidos para a cidade, afogada na verdura sombria dos jardins.
No rio tudo ficou em silêncio; na cidade, algures, ao longe, um cão uivava tristemente; compridas sombras opacas estendiam-se pelo chão e a luz viva da lua tinha prateado os cimos pontiagudos dos choupos.
Começou a soprar uma brisa leve... a superfície do rio cobriu-se de rugas finas e densas, e o ruído agradável das árvores alargou-se como uma onda no ar húmido e fresco.
141
142
III
EXTRACTO DE UMA CARTA
Perguntas-me quais são, presentemente, as minhas relações com a Bárbara. Respondo-te com muito prazer: rompi com ela completamente.
A coisa aconteceu de uma maneira original e penso que os pormenores não deixarão de te interessar. Contar-te-ei tudo e não o farei sem algum deleite, uma vez que, como sabes, a maior vitória é vencermo-nos a nós próprios.
Presta atenção.
Recordas-te de mim naquela época em que eu representava para ela um objecto sobre o qual ela exercia o seu domínio e um pano de fundo que ajudava a destacar-lhe a altiva e calma silhueta da maneira mais vantajosa. Sabes como eu estava seduzido. Digo bem, seduzido, e muito seriamente. Pedi, supliquei, persuadi, demonstrei... Ela ouvia com um sorriso frio e afiava em silêncio as agulhas gélidas de diversas sentenças para em seguida, com a maior indiferença, "com um meigo sorriso na sua fronte pálida", as mergulhar no meu coração. Eu sofria tanto quanto se pode sofrer em tais casos e demonstrava-lho como me era possível.
Sofria, tinha paciência, e no fundo de mim mesmo estava certo de obter a vitória. Essa certeza era sustentada
143
por um orgulho irritado que chegava a doer. Crescia em cada encontro, submergindo a pouco e pouco o que então eu chamava o meu amor por ela. O amor afundava-se e das suas cinzas renascia, inicialmente sem a minha participação, uma nova fénix: o desejo de lhe pagar na mesma moeda.
De repente tomou forma completamente e tudo lhe cedeu.
Evidentemente, eu não lhe criava obstáculos, direi mais, sentia-me feliz: porque é impossível que não nos regozijemos por estarmos prestes a libertarmo-nos das nossas cadeias, mesmo simples cadeias de amor; só nos versos, e mesmo assim muito raramente, é que as chamamos "ternos laços...". O homem deseja sempre ser livre, quando é verdadeiramente um homem e não um ser que,, por um tempo, cumpre os deveres daquele, usando calças,! dotado de palavra e, armado com esses conhecimentos! hábil em dissimular a verdade.
Sentia-me portanto contente e empregava todas as capacidades do meu espírito na confecção de redes onde, apanhada, a rainha do meu coração pudesse aprender por experiência própria como é agradável ser um joguete nas mãos do seu semelhante.
Pensei, pensei aplicadamente, e obtive o sucesso, como poderás ver.
Mostrei nas minhas relações com ela cada vez mais zelo e ternura, e adulava-lhe ostensivamente o amor-próprio; pouco a pouco tornei-me para ela um objecto cada vez mais indispensável; e, ao mesmo tempo, nas minhas relações com todas as outras pessoas, mantive uma atitude mais altiva e independente do que nunca. O que devia levá-la, fatalmente, a pensamentos que eram no mais alto grau favoráveis ao meu projecto e prometedores de sucesso. Via que ela aumentava comigo o grau de intimidade e que começava a poupar-me um pouco. Uma ou duas vezes nas nossas conversas, sozinhos, notei que os olhares que ela pousava em mim eram doces, mesmo ternos, e que nas suas relações comigo se insinuava essa precaução feminina, cheia de astúcia, que resulta de uma certa inquietação, vaga, imprecisa, e que nos adverte por
144
meio da sua aparição que a fortaleza está prestes a render-se. Redobrei o meu zelo. Ela hesitava... Mas tudo tem um fim. Chego agora ao desenlace. Estávamos ambos sob um caramanchão, à beira de um lago. A noite acabava de cair. Foi em Junho... Os rouxinóis e a lua, as sombras, o perfume das flores, eu tinha tudo isso nos seus lugares e em quantidades maiores do que as necessárias à marcha das operações.
Falei e falei bem, com paixão, em abundância... Estava na pele do personagem, como se costuma dizer. Se não me engano algumas lágrimas brilharam no canto dos meus olhos, o que, bem entendido, não passou despercebido. Falei, falei... e, saboreando a minha vitória de antemão, continuei a falar. Mas eu estava sentado a menos de meio metro dela e não lhe estendi os braços.
Chegou o momento de me pôr de joelhos e levantei-me.
E quando chegou o de lhe pegar na mão e de a beijar respeitosa e apaixonadamente ao mesmo tempo, peguei-lhe na mão e beijei-a com respeito e paixão em partes iguais.
Não me afastei um passo do modelo estabelecido pelos séculos, nem um passo até ao final, meu caro.
E então calei-me, evidentemente, no frémito da expectativa, e, sob as pestanas, vigiava-a sem que ela o percebesse. Estava perturbada, a respiração era arquejante, os olhos faiscavam de paixão como um convite... Hurrah!
Eis que me estende as pequenas e delicadas mãos
- tremiam ligeiramente - e num murmúrio, um desses murmúrios apaixonados, sabes?, começou a falar.
- Vem para junto de mim, vem, meu querido, meu amor, minha paixão! Vem depressa... vem... eu amo-te...
Levantei-me. Enlaçou-me, apertou-me contra o peito, com força e não cessava de cochichar, arrepiada de emoção.
- Vem, vem!
Então descerrei os braços que me enlaçavam o pescoço, peguei-lhe no queixo, levantei-lhe a cabeça, e em pleno rosto, com um riso forte, disse-lhe tranquilamente:
- Não quero!
145
Voltei-lhe as costas sem olhar para trás... compreendes?... sem um olhar, e afastei-me lentamente, a assobiar com alegria, pela álea do jardim vivamente iluminado pelo luar.
Ouvi-a cair com um pesado gemido de assombro.
Nada mal, hem?
Contei tudo o que havia de interessante.
Ah! sim, mais uma coisa! A minha Betty teve cãezinhos e sou agora o feliz proprietário de um par de minúsculos buldogues, de grande focinho, uns amores.
Adeus. Teu amigo...
146
O CANÁRIO QUE NÃO DIZIA A VERDADE E O PICANÇO REAL INIMIGO DA MENTIRA
Isto é uma história muito verídica e começá-la-ei assim:
Subitamente, entre todos os pássaros cantores, habitantes do bosque onde se produziu este curioso incidente, houve um que atraiu a atenção geral pelas suas canções plenas não só de esperança, mas de certezas absolutas.
Até então, todos os pássaros, assustados e sucumbidos pela súbita vinda de um tempo cinzento e aborrecido, cantavam canções que só se chamavam assim porque eram cantadas: as notas sombrias, tristes e desesperadas dominavam e os pássaros que as ouviam qualificaram-nas inicialmente de estertor de agonizantes, mas depois acostumaram-se a elas pouco a pouco, e começaram até encontrar-lhes diversas belezas, o que de resto, lhes custava um grande esforço.
O tom era dado, em todo o bosque, pelos corvos, pessimistas por natureza e que não servem senão para crucitar com maior ou menor intensidade. Noutra época não se lhes teria prestado atenção, mas agora que as vozes deles predominavam, eram ouvidos e eram mesmo considerados pássaros cheios de sabedoria.
147
Eles notavam esse respeito e cantavam aos berros, lugubremente:
Croá... No combate contra a sorte cruel
Não há para nós, miseráveis, salvação.
Para onde quer que os nossos olhares se voltem
há apenas dor, desespero, poeira e podridão...
Croá!... Terríveis são os golpes da infelicidade!
O sábio suporta-os com resignação...
Croá! Croá!... Que triste canção!... Mas era forte e dominava todo o bosque.
E de súbito ecoaram canções livres e audaciosas...
Todo o bosque, que tinha ouvido muitas outras, estremeceu, soltando baixinho, dos ramos, um murmúrio surpreendido. E até os rouxinóis que cantam sempre muito bem, porque são os padres da religião da arte pura, ouviam com prazer e diziam:
- He!... Há qualquer coisa naquele cantor!
E dizendo isto orgulhavam-se no seu foro íntimo da sua imparcialidade.
E o pássaro cantava:
Ouço os corvos crucitar, temendo a fria escuridão... Também a vejo, mas que importa, a minha razão é vigorosa e clara! Seguem-me os audaciosos! Dissipem-se as trevas, não é coisa para vivos. Demos os corações ao fogo da razão e alargaremos o reino da luz!...
- Muito bem cantado! - comentavam os rouxinóis...
- É jovem, presunçoso, sem grande harmonia, mas mostra-se poderoso... - Abanando o bico com ar profundo, ouviram a continuação:
O que aceita lealmente a morte em combate, pode ser vencido? Vencido é o que resguarda, temeroso, o peito e foge da batalha...
148
Amigos! Aquele que teme ,
o esforço, a emoção, os ferimentos, critica o combate, mergulhado num nevoeiro filosófico...
- Ha!... Ele tem pontos de vista muito originais! - notaram os rouxinóis. - Gostaríamos de saber que pássaro é aquele! - acrescentaram, roídos pela curiosidade.
Amigos! Que os vencidos se calem. O fumo da dúvida roeu-lhes os olhos! A honra e o orgulho adormeceram nos corações deles. Gritemo-lhes: Para trás!... Aqui está declarada a guerra Aos deuses pela primazia!
- Uma coisa temerária! - disseram os rouxinóis.- Oh! Sim... É uma canção muito audaciosa!
O bosque ouvia e experimentava um sentimento poderoso e agradável que o enchia de calor e de luz e até as velhas ramarias cobertas de musgo começaram a cochichar relembrando com saudade os tempos antigos. Eram tempos deliciosos, dias de primavera, quando no bosque começavam a desabrochar as flores e as esperanças, quando os pássaros cantavam hinos livres e sonoros ao sol, e que o céu, puro de qualquer nuvem, parecia de uma profundidade infinita e parecia convidar os pássaros a ensaiarem a força das asas, a atingir-lhe as profundidades. Eram dias felizes em que cada um não necessitava obrigar-se a viver: havia um fim e a esperança de o atingir. E esses dias reapareceram no bosque e cintilaram, como estrelas, no nevoeiro que lhes escondia o céu.
Os pássaros bateram as asas e reanimaram-se. Onde está o cantor? Que ele receba a homenagem do deslumbramento e da gratidão. Deve ser um pássaro esplêndido!
Juntaram-se como uma nuvem e voaram precipitadamente para o local de onde vinham ao seu encontro aquelas notas altivas e audaciosas.
Mas, quando chegaram, viram que era apenas um canário; um canário dos mais vulgares, pequeno, acinzentado,
149
o bico amarelo como cera. Estava pousado no ramo de uma aveleira e ficou muito perturbado com a homenagem que lhe era feita; miserável, arrepiado, agitado, mergulhou toda a gente na perplexidade e não agradou a ninguém.
Para trás!... Aqui está declarada a guerra aos deuses, pela primazia!...
Se é uma águia que grita isto, um falcão, um gavião, o grito é belo e poderoso; mas um canário! Um canário declarar guerra aos deuses!... Há nisso uma espécie de incompatibilidade, algo de extravagante e risível. Para os outros pássaros era mesmo francamente vexatório. Por quê precisamente um canário, e não um pintassilgo, um tentilhão ou um pisco?... Vexados e aborrecidos, os pássaros olhavam o canário e perguntavam a si próprios: - Que se vai passar agora?
Involuntariamente, ele recordava-lhes aquele melharuco grotesco que queria deitar fogo ao mar...
Mas um pintassilgo engenhoso, jornalista de profissão, perguntou ao canário:
- Vamos lá a ver, eras tu que cantavas há pouco?
- Era eu - respondeu o canário, - era eu que cantava.
- Hum!... E como podes provar? Não quer isto dizer que algum de nós duvide das tuas capacidades, mas...
O canário estremeceu, as penas eriçaram-se-lhe e pôs-se a cantar:
Na sombra da noite que criamos passam as corujas cinzentas... Os olhos lúgubres luzem maldosos, sombrios e severos! Os abafados apelos ecoam como risos, como soluços, com maldições à luz do dia... Acolhem a noite alegremente...
150
Oh Se os ferros das trevas
caíssem do meu bosque
as corujas bárbaras sucumbiriam
- só voariam os falcões!...
Mas os falcões, fracos, enfezados escondem-se medrosos nas ravinas, raivosos, sem honra nem força, com os ruídos da alegria alheia. As asas pendem tristemente, os corações dormem na vergonha; os pássaros livres não ouvirão a voz da honra e do pensamento...
A certos pássaros esta canção pareceu uma alusão pessoal e patearam o canário; quanto ao pintassilgo, esse disse:
- bom, isso basta-nos! Mas vejamos, as canções pretendem, se assim me posso exprimir, despertar a consciência social... Hum! Mas no fundo com que direito? Quero dizer, em nome de quê, esse canto?
O canário ficou estupefacto e olhou a assistência em silêncio.
- O facto é que desejamos garantir-nos contra todos os erros; erros que, como sabes, não nos foram poupados; precisamente com esse objectivo é que gostaríamos de conhecer os teus paladinos e as tuas relações, saber onde e para quê nos chamam - inquiriu o pintassilgo; e contente consigo mesmo, começou a assobiar uma ária alheia: os pintassilgos não têm canções suas, como se sabe.
O canário animou-se...
- Parto da minha inabalável convicção na alta missão dos pássaros, como acto último, o mais complexo e o mais inteligente, da criação do mundo. Não devemos ter descanso, devemos lutar sem tréguas e vencer tudo para nos justificarmos a nossos próprios olhos, para ter o direito de dizer: todo o passado, o presente e o futuro, somos nós e não a força obscura dos elementos. A via que devemos seguir é-me desconhecida, mas o que sei é que é necessário ir para a frente. Lá está o país que recompensará
151
dignamente os esforços que tivermos feito pelo caminho. Lá há uma luz eterna, inapagável, lá há maravilhas que nos são desconhecidas; lá, nesse longe, grandes, livres, depois de triunfar de tudo, nós, os pássaros, deleitar-nos-emos com a contemplação do nosso próprio poder, e o universo inteiro será a arena das nossas proezas de que não pode representar-se toda a grandeza; lá o nosso pensamento resolverá tudo e os nossos sentimentos requintados abrir-nos-ão um mundo de delícias ainda desconhecidas; é lá que nos espera uma vida digna de nós!... Respeitai-vos e amai-vos uns aos outros, caminhai lado a lado, orgulhosos e fortes para a vitória, não duvideis de nada, porque nada há de superior a vós... Voltem para trás e vejam o que eram antes, na aurora da vossa vida: toda a nossa fé de então não valia uma parcela da nossa dúvida presente... Agora que aprenderam a duvidar tão terrivelmente de tudo chegou o momento de acreditarem em si próprios; porque só uma essência superior pode atingir uma dúvida igual àquela que vos atingiu!... Todos para lá, no país da felicidade, onde nos espera a grande vitória, onde seremos os legisladores do universo, os seus chefes, onde seremos donos de tudo... Todos para lá, para esse maravilhoso "para a frente"!...
- Para a frente!-exclamaram os pássaros, porque nos seus corações se tinha erguido o orgulho de si próprios.
Lágrimas de entusiasmo e de fé encheram os olhos do canário. E todos os pássaros cantavam, e todos sentiram um tal alívio que lhes começou a nascer no coração o desejo imperioso de viver e de ser feliz.
- Um momento! Dêem-me licença!... Peço a palavra... a palavra!
Era o picanço real que gritava assim do alto de uma faia; quando o ouviram deram-lhe a palavra imediatamente porque ele gritava muito alto.
- Minhas senhoras e meus senhores, - começou o pássaro - apresento-me: Picanço Real: nutro-me de vermes e amo a verdade que sirvo sem desfalecimento. Isso me leva a dizer-lhes que estão a ser enganados desavergonhadamente. Todas essas canções e todas essas frases que acabam de ouvir, meus senhores, são apenas mentiras
152
imprudentes, e vou ter ocasião de o demonstrar com provas na mão... com provas na mão, meus senhores! Perguntem então ao senhor Canário onde estão os factos que ele poderia apontar em apoio das suas afirmações. Não tem nenhuns e é precisamente disso que ele precisaria, mais do que eu; tudo e todos nós, meus senhores, nada mais somos do que factos ínfimos, confirmando o facto grandioso do conhecimento e do poder da natureza à qual nos devemos todos submeter, como filhos perante a mãe.
Examinemos com isenção o que há lá em baixo, nesse "para a frente" onde o senhor Canário nos chama. Já vos aconteceu, a todos, voar até à orla do bosque e sabem que a seguir começa a planície, no Verão despida e queimada, no Inverno coberta de neve glacial; lá, nessa extremidade, encontra-se uma aldeia onde habita Grichka, um homem cuja ocupação é a de apanhar pássaros. Eis a primeira estação no caminho que nos leva "para a frente" e do qual o senhor Canário vos contou maravilhas.
A supor que nos lançávamos para a frente em conformidade com o seu voto cujo desinteresse me permitirei pôr em dúvida, dado que eu sei que os canários, assim como todas as outras criaturas, não são inimigos da popularidade, da glória, etc. - supondo que escapávamos às armadilhas de Grichka e ultrapassávamos a aldeia, não deixaríamos de nos encontrar numa planície em cuja extremidade encontraríamos outra aldeia, depois novamente: planície, aldeia, planície... e como a terra é redonda, seríamos obrigados fatalmente a regressar ao bosque onde, no momento presente, tenho a grande honra de vos falar. É esse o país onde, a acreditar no senhor Canário, os nossos esforços encontrarão a sua recompensa?... É ele?...
Conheço-vos a todos, senhoras e senhores, sei como vocês voam alto, mas... embora o possa dizer com alguma amargura, sei que nenhum de vós voou alguma vez, ou poderá voar, mais alto do que ele próprio. A tentativa do senhor Canário consiste em enganar a vossa atenção obscurecendo-vos a vista com frases brilhantes e sonoras, e mostra bem em que espécie de estima ele vos tem,
153
como criaturas dotadas de razão! Essa tentativa deve ser severamente castigada, senhores e senhoras!...
Cheio do sentimento do dever cívico cumprido, o sábio picanço, envolveu o auditório num olhar triunfante e pôs-se a bicar os ramos da faia preta em que se alcandorava.
Os pássaros olhavam o canário sem dizer uma palavra e viam-lhe as lágrimas correrem dos olhos uma após outra. De que podia ele chorar, senão dos erros de que era culpado perante eles? Um canário tão miserável, tão frágil e tão mentiroso!
Ele olhava com ar abatido e longínquo, e era como se os seus olhos dissessem adeus a qualquer coisa.
O bosque estava silencioso e os pássaros voaram, silenciosamente, cada um para o seu ninho. O picanço voou também, acompanhado por demonstrações de admiração respeitosa pela sua inteligência.
O dia estava cheio de tristeza, dir-se-ia que estava prestes a chorar.
O canário que não dizia a verdade ficou sozinho. Imóvel, cabisbaixo, estava pousado num ramo da aveleira, e só um gaio lhe lançava olhares curiosos entre a folhagem arrepiada da faia negra. Mas fartou-se depressa e, com um assobio zombeteiro, esvoaçou e partiu.
O canário ficou; pousado no ramo da aveleira pensava:
- Menti-lhes, sim, menti-lhes, porque não sei o que há lá longe, para lá do bosque; mas é tão bom acreditar e ter esperança!... Só queria despertar-lhes a fé e a esperança: por essa razão menti... O picanço talvez tenha razão; mas para que serve a verdade dele se ela pesa sobre as nossas asas como uma pedra?
E olhando à sua volta, o pobre canário aninhou-se.
É esta a história... Quando tiveres lido verás, evidentemente, que o canário é um coração nobre mas com pouca fé e, consequentemente, pobre de coragem; que o picanço é prudente mas vil, que os pássaros do auditório são sensíveis apenas por curiosidade, mas têm no fundo o coração seco e são mesquinhos, vergonhosamente mesquinhos... Quando tiveres visto isso, pensarás que relatei com infidelidade esta história, cómica de fazer chorar. Pensa-o, se isso te pode consolar, pensa-o!...
154
CONVERSA com O CORAÇÃO NAS MÃOS
(História pouco verosímil, mas perfeitamente possível)
Numa das margens do rio - o rio do Tempo, minhas senhoras e meus senhores - mantinha-se a Virtude, numa pose majestosa, e na outra, o Vício, caminhava de um lado para o outro.
A Virtude, como uma estátua esculpida no mais duro dos mármores, era fria e sólida; e o Vício era tão vil e de tal modo embebido do veneno de todas as espécies de abominação que as próprias moscas, se se arriscavam a picá-lo, morriam imediatamente fulminadas.
A Virtude mantinha-se imóvel e mergulhava na geleia do auto-deleite, ao passo que o Vício ia e vinha ao longo da margem e reflectia em qual o melhor modo de levar a cabo as acções que lhe sustentavam o renome.
E no conjunto tudo corria bem.
O rio do Tempo corria diante deles e nas suas ondas agitadas debatiam-se e balançavam objectos p'ara os quais se dirigia a actividade do Vício e os olhares da Virtude. À superfície das ondas os adoradores do Vício provocavam escândalo, sob eles sufocavam os que suspiravam pela Virtude, e entre elas apareciam e desapareciam objectos que não tinham tido ainda tempo para formar opinião nem de adquirir convicções, e que se limitavam a enrugar os olhos e a abrir uma grande boca, ensurdecidos pela
155
algazarra e cheios de desejo de se adaptarem o mais depressa possível à nova situação.
Enquanto o Vício agia, a Virtude contemplava e, embora condoída em voz alta daqueles que pereciam sob a garra do Vício, no seu íntimo desprezava-os e não os lamentava.
"Ah!, como são vis! Oh!, como são fracos! Incapazes de resistir ao Vício. Ao Vício, ora..."
Sem que a vissem fazia-lhes uma careta de desprezo.
E o Vício ia e vinha, cantando:
A vida é só
breve momento.
O prazer
é a essência e o sentido da existência.
O crime não merece
que contra ele se irritem!...
Diabos levem os pregadores
da bondade!
Que nos interessa o seu discurso?
A vida é só
breve momento. Não se deve
tomar senão o que é simples,
o que enebria facilmente.
Que importam depois os passos de Plutão?
Apressa-te a colher a flor da existência!
Bebe o vinho e quebra o copo!
Nada se poderia clamar
mais verdadeiro do que isto:
"O dever dos outros é calarem-se!"
Não é permitido duvidar.
Podem ouvir
os sermões, amigos!
Não poderá porém ser contestado
que o prazer
seja a essência, o objectivo da existência!
Cantava e era ouvido. A Virtude indignava-se e alargava-se de repente em dois mil poemas de todas as dimensões e de todos os géneros onde se celebrava a
156
proximidade do seu triunfo e onde o Vício era ameaçado de uma derrota definitiva. Havia neles versos irónicos, estúpidos, sarcásticos, éticos, líricos, sonoros, longos, curtos... Mas o Vício nem por isso deixava de os engolir de través; e não contente com isso, nos momentos livres em que não tratava de empreendimentos imediatos e especiais, lia com deleite todos aqueles versos e escrevia a seu respeito notas críticas nas quais, conforme a sua disposição, vertia as suas censuras ou alargava-se em lisonjas vulgares; e de qualquer modo fazia sempre notar que era necessário dar a primazia à estética pura, dado que então, segundo pensava, a obra teria mais força.
Vendo que os versos não resultavam, a Virtude fazia entrar em acção a prosa, e demonstrava novamente, em espessos volumes, tal como dois e dois serem quatro, que estava absolutamente assegurada a proximidade e a necessidade da sua vitória sobre ele, o Vício abjecto.
E ele, garanto-vos, também lia os livros; evidentemente, apenas os menos aborrecidos, e ao lê-los, aprovava-os.
- Não há nada a dizer, - comentava - tem peso, é sólido, escrito de modo convincente, e eu próprio posso encontrar aqui material que me sirva.
E era isso mesmo que fazia, o patife. Todo o volume, oito mil páginas sem excepção de uma única, estava escrito contra ele, e ele achava maneira de extrair dali um novo plano de acção, e também de aumentar a lista dos subterfúgios que empregava para perder as almas humanas.
Era esta portanto a situação até ao momento em que ocorreu aquele acontecimento que, com sincero respeito, senhoras e senhores, vou ter a honra de narrar.
Um belo dia, ele (isto é, o Vício) tratava dos seus assuntos e, cantarolando a sua canção, agia no lugar que o destino lhe tinha marcado.
Vestido segundo a mais recente moda de Paris, com um ramo de camélias na mão, estava correcto, mas, fique bem claro, apesar de tudo desagradável; e ela (isto é, a Virtude) estava seca e majestosa na sua toga romana já um pouco fora de moda.
157
De um modo geral a vida dela não era alegre, mas naquele dia aborrecia-se mais do que nunca. Os seus adeptos sofriam em toda a parte duras derrotas; e aqueles que tinham podido e sabido evitá-las, retiravam-se nobremente do combate, faziam mil velhacarias e lamentavam não ter possibilidades de fazer outra coisa uma vez que não possuíam uma alma imortal. Agitada por amargas reflexões acerca da fragilidade da sua luta contra o Vício, a Virtude prestava atenção ao hino do adversário, pousava um olhar desolado sobre a sua silhueta elegante e vulgar, feia e bela, tudo junto. Subitamente sentiu nascer em si uma ideia nova, uma ideia bizarra que não condizia com a sua dignidade, que não se harmonizava com a sua actividade, que era mesmo contrária à sua essência e que, no final, formulou assim:
"E se eu lhe falasse com o coração nas mãos? A verdade é que nunca experimentei falar-lhe assim. E talvez... quem sabe o que poderá vir a acontecer? Falar-lhe-ei... sim, falar-lhe-ei... Dirão que é uma vergonha... Mas, meu Deus, não seria a primeira vez que me acusariam de inconstância e fraqueza..."
- Senhor! - gritou ela, para a outra margem.- Ouça-me!
O Senhor acabava precisamente de beber uma taça de champanhe à sua própria saúde e preparava-se para beber segunda.
- Minha senhora!- saudou ele, com galantaria.- Em que posso ser-lhe útil?
- Eu gostaria... quer dizer, não!... Para falar com mais precisão, eu queria...
- Uma taça de champanhe, minha Senhora?
- Cavalheiro... Peço-lhe que me não ultraje com semelhantes suspeitas! - declarou a Virtude erguendo a cabeça orgulhosamente.
- Peço-lhe desculpa, minha Senhora!... A sua bem conhecida generosidade permite-me esperar que me perdoará... Mas para falar a verdade, ofereci-lhe uma taça com um respeito tão grande como aquele com que tenho agora a honra de lhe oferecer toda a garrafa.
158
- Não bebo meu caro Senhor... Então não tem conhecimento de que não bebo?... - disse a Virtude severamente.
- Eu sei, oh! sei muito bem!... E deploro-o sinceramente, minha senhora, porque desse modo se priva de um dos maiores prazeres. Essa sua atitude admira-me, porque quando se é obrigado a lidar com os homens parece-me que se é forçado a embriagar-se até cair morto, de tal modo as relações com eles são repugnantes!
- Um momento! Queria ter consigo uma conversa séria, queria-lhe falar como se fala a uma potência que...
- Sempre às suas ordens, minha Senhora! Sempre às suas ordens!
- Não me interrompa!... O Senhor tem quase tanta importância, na vida, como eu própria, e luta contra mim. Por quê?... Eis o problema que gostaria de examinar consigo imparcialmente, sob todos os ângulos, de modo a que possamos talvez, graças a esse exame, chegar a qualquer acordo...
- Minha Senhora, juro-lhe pelo meu triunfo, o qual, entre parênteses, começa a aborrecer-me seriamente, que lhe veio ao espírito uma ideia realmente virtuosa. Uf! Como seria agradável organizarmos umas pequenas férias! Há séculos que nos mantemos aqui, os dois, ambos firmes no nosso posto, sem nunca gozar um minuto de repouso... A luta sempre a luta!... E por quê, permite-me que lhe pergunte?
- Por favor, considere seriamente aquilo que entendi ser necessário dizer-lhe! - notou severamente a Virtude.
Mas o Vício encolerizou-se, passou-se nele qualquer coisa estranha, e disse com muito orgulho e uma grande força:
- Não, desculpe! Quero dizer também o que tenho a dizer, caramba!...
- Cavalheiro! O Senhor está a pronunciar grosserias!...- disse a Virtude com ar de censura.
- Sim, digo grosserias, quero dizê-las e di-las-ei!... Quero dizer o que tenho a dizer!... Que os diabos me levem... tenho o direito de o dizer... Estou indignado, sou
159
ultrajado, exijo que prestem atenção às minhas palavras! Supõem talvez que não sinto os ultrajes? Oh!... eu...
- Dê-me licença, meu caro Vício, que significam todos esses lamentos e esses clamores?... Pode estar certo de que não poderá dizer nada que eu já não saiba. Também eu estou cheia de amargura e também me caluniam do mesmo modo; ultrajam-me e humilham-me como a si...
- Ah!, minha Senhora, aí está a razão porque não gostam de si: gosta demasiado de fazer longos discursos.
- Um momento! Tenha um pouco de bom senso e de sangue frio.
- Eu... sangue frio? Diabos levem todos os disparates que me cercam! Esta vida mutila-me, essa é que é a verdade! E estou cansado... sim, cansado! Digo-lhe com toda a sinceridade, desde há muito tempo que duvido do bom senso do nosso antagonismo, há muito tempo que tenho vontade de lhe propor uma trégua a fim de examinar as razões porque temos de nos arrastar mutuamente na lama. A quem é que isso favorece? Mas alguma coisa me impedia de o fazer, e à força de pensar e de me torturar tornei-me quase uma máquina de reflectir como os meus adeptos, os homens. Sou profundamente infeliz, minha Senhora... Quanta dor e sofrimento na minha vida, oh...
- Mas ouça-me, afinal! - disse a Virtude, interrompendo o desabafo melancólico do seu inimigo. - Para que servem as suas queixas? É compaixão que pede? Sejamos sinceros até ao fim, não ignora que eu só posso dar compaixão... em palavras... tem necessidade de que me compadeça de si dessa maneira? Tenho razões para crer que quando fui criada me dotaram com todas as qualidades que me eram necessárias como Virtude, mas que, manifestamente, com o tempo, e na minha luta contra si, essas qualidades degeneraram, perderam-se; e neste momento sou muito mais um fantasma do que um ser dotado de existência real... Onde encontrar explicação para um fenómeno tão aflitivo?... Nas relações dos homens comigo e em nenhuma outra parte! Essas relações...
- Um momento, minha Senhora!... Não fale dessas relações! Compreendi-as através da minha própria experiência,
160
penosa e amarga, conheço-as! Insuflei as minhas melhores qualidades aos meus admiradores e eles traíram-me, passando para as suas fileiras como outros a traem passando para as minhas. Ainda sou o Vício que fui? Este ser vil, rastejante, sórdido, mesquinho, sou eu? Onde está o meu Nero, minha Senhora? Onde o Calígula? O Bórgia? O Marquês de Sade? Onde estão eles, os génios do Vício? Não existem, minha Senhora... E nunca mais os haverá! E agora sou incapaz de os criar, não só porque as minhas antigas forças me abandonaram, como porque não há molde onde eu possa moldar, não há homens capazes de grandeza, no vício ou na virtude. Os homens roubaram-me. Tal como a si, roubaram-me. As nossas melhores qualidades, os seus melhores actos, tudo estragaram, despojaram-nos da sua unidade e da sua perfeição artísticas, com a maldita tendência para a reflexão que possuem. Fazem o trânsito entre a Senhora e eu, e o próprio Diabo não conseguiria destrinçar qual de entre nós é vicioso e qual é virtuoso. Malditos analistas!... - Engasgando-se com o furor, o Vício calou-se.
Então a Virtude tomou a palavra:
- Apesar dos meus pontos de vista acanhados e do meu espírito limitado, compreendo-o, meu caro Senhor, e sinto-me de acordo consigo. Do mesmo modo que pergunta onde estão os seus melhores discípulos, também eu pergunto: onde está o cidadão Brutus? Onde, Aristides, o Justo? Ou o bem-aventurado Agostinho que punha em cada uma das suas palavras todo o fervor dum coração apaixonado, Onde estão os grandes virtuosos? Onde está o homem Completo? O que plana à minha volta são sombras, frias sombras exangues, e não homens! Arrependem-se e choram, choram e arrependem-se, e, embora o façam com perfeição, é acaso nisso que consiste o meu culto?... Que acções obtêm hoje o direito de se considerarem virtuosas? Se um determinado indivíduo não rouba, não mata, não mente, não insulta, e se, passando ao lado de pessoas que fazem tudo isso com zelo, se desvia em silêncio, é virtuoso!... Mas, estúpido e impassível, por que se desvia? É porque sente aversão por acções dessa espécie e pelas pessoas que as cometem ou porque inveja
161
secretamente a habilidade delas e teme entrar nas suas fileiras, porque não se sente bastante forte para o mal, para o crime?... Este é o problema, Senhor!
E não é evidente que não somos nós que levamos os homens, mas sim eles que nos conduzem? Não é evidente que não somos para eles mais do que uma distracção, nada mais do que uma coisa que põe um pouco de variedade das suas vidas informes, uma coisa na realidade inútil para eles?... Tem ouvido as zombarias, os risos que me dirigem, e eu estou ensurdecida com as maldições que lhe dirigem a si, mas, meu caro Senhor, fazem eles isso por tradição herdada dos antepassados ou por um sentimento sincero, e verdadeiramente firme nos seus corações, de amor e de ódio?... Há neles sentimentos fora da auto-deleitação em todos os graus e sob todas as formas? E, para acabar, somos-lhes, o Senhor e eu, necessários, nós que somos duas essências directamente opostas com caracteres individuais fortemente marcados? Não devemos ir, nós os dois, ao encontro do acontecimento que deve fatalmente vir a produzir-se...
- E fundirmo-nos ambos num único? - exclamou alegremente o Vício. - Hurrah! Que ideia genial. Nem sequer é uma ideia, é uma revelação, é... qualquer coisa de uma profundidade grandiosa, que não possui definição na língua do Vício nem nos lábios da Virtude.
- Um momento, Senhor!
- Minha Senhora, basta!... Vejo claramente o que devo fazer, sim compreendo qual é a minha tarefa: minha Senhora, peço-lhe que me conceda a sua mão e o seu coração, se acaso ainda tem alguma parcela!... Minha Senhora... posso contar com um sim?
A Virtude, estupefacta, oscilou e, horrorizada, ergueu os braços para o céu.
- Senhor!... - balbuciou ela quase sem forças para falar.
- É um negócio arrumado, Senhora?... Que perspectiva maravilhosa se abre diante de nós graças a esse casamento! Ligados pelo matrimónio dormiremos sobre os nossos louros, contemplando com ironia uma humanidade agora liberta definitivamente de qualquer representação
162
do bem e do mal, da maldade e da bondade, uma humanidade errando através de uma floresta de perplexidade e cumprindo livremente o que lhe vier a apetecer. Quantos equívocos trágio-cómicos haverá inicialmente! Quantos corações fechados completamente até agora, se irão abrir largamente e quantos baixos desejos desabrocharão, até ao presente dissimulados sob o disfarce da consciência! O bom e o mau marcharão de braço dado para o sacro objectivo: o repouso do espírito e do coração. Todo o globo terrestre se transformará numa imensa porcaria e encontrará finalmente repouso. Também nós repousaremos, nos braços um do outro, e ficaremos até ao fim dos tempos mergulhados na paz e na felicidade. Por outro lado é necessário que tenhamos pena do coração humano partilhado em dois e esgotado pela luta entre o branco e o negro. Tréguas para ele, minha Senhora!... Há muito tempo que ele guerreia contra si próprio, e esta guerra tem pouco senso e razão. Sejamos compassivos, transformemo-nos num ser único, indivisível, aniquilando num longo e ardente beijo o negro e o branco. Criemos um cinzento incomensurável que penetre todas as coisas! Senhora, é um sim?
A Virtude mantinha-se em silêncio. Primeiro, ultrajada pela oferta do Vício, tinha a pouco e pouco afogado esse sentimento num mar de reflexões utilitárias, e, no final do discurso do Vício, já não sentia senão o desejo de se garantir o mais solidamente possível contra os erros prováveis num problema tão importante.
- Senhor, antes de aceitar a sua oferta, julgo necessário esclarecê-la sob todos os ângulos, quer para mim quer para si.
- Pede uma semana para reflectir? Hum!... Desculpe-me, mas tenho as melhores razões para duvidar que saia alguma coisa de bom das suas reflexões. Reflexões virtuosas!-o Vício teve um sorriso céptico.
- Não, meu caro Senhor, apesar de tudo... Sabe muito bem que não posso aceitar um casamento senão legítimo, não posso consentir...
- Hum!... que o Diabo me leve! A ideia é duma estupidez e duma banalidade clássicas... Ao menos por esta
163
vez deixe-se cair nos braços do Vício sem cerimónias supérfluas. Uma vez que ambos pereceremos e não haverá mais um ou outro, não haverá nada senão um emaranhado geral das ideias! Saímos, por assim dizer, da vida das pessoas, deixando-as desenrascarem-se à sua vontade segundo as possibilidades de que disponham. Está-se a. preocupar com coisas que manifestamente não valem a pena que se lhes preste atenção. Ainda admito que se queira inquirir das condições materiais da existência, mas uma opinião, um preconceito... Hum!... Hum!... Neste ponto veio ao espírito do Vício um pensamento brilhantemente vicioso e fechou subitamente a Virtude nas suas salas, ou, mais exactamente, nos seus vis abraços.
- Senhor! - gritou a Virtude horrorizada pelo aspecto inesperado que as coisas tomavam.
- Minha Senhora, não me vai dizer que pretende manter-se virtuosa? - sussurrava o Vício com voz persuasiva; mas tendo-a beijado por engano no nariz, cuspiu enojado.
- Infame!... Desaparece!... - gritou a Virtude, arrancando-se dos braços do Vício.
- Que quer dizer? - perguntou o Vício com o maior sangue frio, muito pouco perturbado por esta cena.
A Virtude, com os olhos brilhantes, calava-se orgulhosamente.
- Então? - zombou o Vício.
- Volte para o seu lugar, Senhor! - disse a Virtude com voz autoritária.
- Mas, minha Senhora, explique-me por que diabo começou esta conversa estúpida? - gritou o Vício, encolerizado.
- Já se esqueceu? - disse a Virtude, ameaçando-o com o dedo.
- bom... e agora? Vamos outra vez perder o nosso tempo com banalidades? Bem, percamos então o tempo... Admitamos, embora seja estúpido e inútil. Os homens, se nós próprios os não auxiliarmos a chegar a um denominador comum, não nos deixarão em paz; vão-nos torturar e violentar. A solução seria efectivamente que nos fusionássemos,
164
, nos fundíssemos num só todo, essa é a minha opinião. Entretanto, até à vista!... Vou-me embora!
Partiu para o seu posto e ela ficou de pé, no dela. Ao caminhar ele cantarolava para si mesmo, em voz baixa:
A vida é só
breve momento.
O prazer
é a essência e o sentido da existência.
O crime não merece
que contra ele se irritem!...
Tudo à volta estava silencioso... As estrelas piscavam de espanto e de vez em quando passavam nuvens diante delas, navegando a todo o vapor com rumo desconhecido. E quando passavam, as estrelas escondiam-se timidamente e a lua, abrindo uma grande boca, olhava para a
terra e a sua expressão era 1
Nas rugas do céu apareceram grossas gotas de suor, provocadas pela expectativa do desenlace daquela cena aflitiva: caíam sobre a terra e sobre a minha fronte, frias e pesadas. Eu estava sentado nas moitas da minha imaginação e o meu coração estremecia de compaixão pelo lamentável Vício e pela pobre Virtude. Foi assim que decidi, Senhoras e Senhores, dar-vos conta da aflitiva situação deles e provocar por minha vez, nos vossos corações, um frémito de compaixão a seu respeito, e lembrar-vos desse modo a necessidade de acções totais, fortes e capazes de solidificarem no mundo a causa da vida.
1 Algumas palavras indecifráveis.
165
166
O AVÔ ARKHIP E LIONKA
Estavam à espera da jangada e, deitados à sombra da margem escarpada, olhavam silenciosamente as ondas rápidas e revoltas do Kuban que lhe corria aos pés. Lionka chegou a dormitar, mas o avô Arkhip sentia no peito uma dor surda que o oprimia, e não conseguia conciliar o sono. Contra o fundo marrom escuro da terra os dois vultos esfarrapados e contraídos mal se destacavam, como dois miseráveis novelos, um deles pouco maior que o outro; os rostos fatigados, curtidos, cobertos de poeira, aliavam-se perfeitamente com a cor dos andrajos pardacentos.
O longo corpo ossudo do avô Arkhip estendeu-se cortando a estreita língua de areia que se espraiava como uma fita amarela ao longo da margem, entre a escarpa e o rio. Lionka, adormecido, estava encolhido, junto do avô, como um pequeno croissant. Era pequeno e frágil, envolto nos andrajos tinha o ar de um galho torcido, desligado do avô, velho tronco ressequido, trazido até aqui e rejeitado para a areia pelas ondas do rio.
O avô com a cabeça erguida sobre o cotovelo olhava para a margem oposta, inundada de sol e bordada pobremente com alguns raros rebentos de salgueiro; distinguia-se entre os arbustos a borda escura da jangada. Ao fundo era a desolação e o vazio. A fita cinzenta da
167
estrada destacava-se do rio e mergulhava na estepe; havia nela algo de impiedosamente recto, seco e desolador.
Os olhos inchados e opacos do velho, de pálpebras vermelhas e inflamadas, piscavam constantemente e o rosto sulcado de rugas estava crispado numa expressão de angústia e desalento. De vez em quando não conseguia impedir-se de tossir, olhava para o neto e escondia a boca na mão. A tosse era rouca, sufocante, erguia-o e arrancava-lhe dos olhos grossas lágrimas redondas.
Aparte a tosse do avô e o ruído amortecido das vagas na areia, a estepe estava muda. Alongava-se dos dois lados do rio, imensa, amarelada, queimada pelo sol, e apenas ao fundo, longe, no horizonte, ondulava sumptuosamente, quase invisível aos olhos senis do velho, um oceano dourado de trigais em cima do qual caía em linha recta um céu claro e ofuscante. Desenhavam-se lá três silhuetas esbeltas de choupos distantes; ora pareciam diminuir, ora aumentar, e o céu e o trigo sob o céu, tudo parecia balançar, subir e descer. E subitamente tudo desaparecia atrás do véu brilhante, prateado, da miragem da estepe...
Esse véu luminoso, película enganadora, aproximava-se por vezes até quase tocar a margem do rio e então era também ele como um rio que cairia directamente do céu, tão puro e tão calmo como ele.
O avô Arkhip, que desconhecia aquele fenómeno esfregava os olhos e pensava tristemente que aquele calor e aquela estepe lhe tiravam a vista, como lhe tinham tirado a força das pernas.
Naquele dia ainda se sentia pior do que nos últimos tempos. Pressentia que morreria muito em breve e, embora a morte o deixasse indiferente, sem pensamentos, como perante algo obrigatório e necessário, gostaria de morrer longe dali, na sua terra natal, e sentia-se afogado pela angústia quando se lembrava do neto... Que aconteceria a Lionka?...
Fazia essa pergunta várias vezes por dia, e de cada vez sentia qualquer coisa contrair-se nele, gelar-se, dominá-lo uma tal náusea que desejaria regressar imediatamente a casa, à Rússia.
168
Mas a Rússia estava longe... De qualquer maneira não chegaria lá, morreria algures, no caminho. Aqui, no Kuban, as pessoas tinham o gesto largo; eram generosos mas desagradáveis e zombeteiros. Não gostavam dos mendigos precisamente porque eram ricos...
Pousou no neto o olhar humedecido pelas lágrimas e acariciou-lhe a cabeça suavemente, com a mão calosa.
A criança mexeu-se e ergueu para o avô olhos azuis, grandes olhos profundos, pensativos como se fossem adultos, e que pareciam ainda maiores no rostinho magro e marcado pelas bexigas, de lábios finos, exangues, com um nariz pontiagudo.
- Já aí vem? - perguntou ele, e, colocando a mão em forma de viseira, olhou para o rio que reflectia os raios de sol.
- Ainda não, não vem. Está à espera. Por que é havia de vir? Ninguém a chama, por isso está parada...
- começou Arkhip, continuando a acariciar a cabeça do neto. - Estavas a dormir?
Lionka fez um movimento de cabeça ambíguo e estendeu-se na areia. Calaram-se.
- Se soubesse nadar tomava banho - declarou Lionka.- O rio aqui corre muito depressa. Nós não temos rios assim. Por que corre tanto? Parece que tem medo de chegar atrasado...
- Ouve - disse o avô - podemos tirar os cintos, amarrá-los um ao outro, ligo-te uma perna e deixas-te escorregar para a água. Assim já podes tomar banho...
- Ora, ora! - proferiu Lionka com voz de quem pensa razoavelmente. - Imaginas cada coisa! Acreditas que o rio não te arrastaria? Isso era bom para nos afogarmos os dois.
- Isso é verdade. A água arrasta com velocidade... Tenho a certeza de que no degelo o rio salta fora do leito, caramba. Deve ser bonito, com essas pradarias que não acabam mais!
Lionka não tinha vontade de responder e deixava o avô falar sozinho; tinha nas mãos um torrão de barro seco que esmigalhava entre os dedos com ar sério e concentrado.
O avô olhava-o e meditava, com os olhos enrugados.
169
- É assim... - começou Lionka com voz baixa e monótona, sacudindo a poeira das mãos - vês esta terra... peguei nela, esfreguei-a nas mãos e transformou-se em poeira... grãos minúsculos, quase invisíveis.
- Que queres dizer com isso? - perguntou Arkhip, começando a tossir e examinando através das suas grossas lágrimas os olhos grandes, secos e brilhantes, do neto. - Que queres dizer? - repetiu quando a tosse abrandou.
- Nada... - Lionka abanou a cabeça. - Quer dizer que... bem... ela é toda inteira, assim!...-apontou com um gesto a outra margem do rio - E há de tudo construído em cima desta terra... Quantas cidades já atravessámos! Quantidades! E pessoas por toda a parte, quantas, quantas!...
E como não podia explicar o seu pensamento, Lionka pôs-se novamente a meditar em silêncio e a olhar à sua volta.
O avô calou-se também durante um momento, depois, aproximando-se mais do neto, voltou a falar-lhe, carinhosamente:
- És esperto! É como tu dizes, é tudo poeira... as cidades, os homens, tu e eu somos da mesma poeira,... Ah! Lionka, meu Lionka, poderias ir longe se fosses à escola... Assim, que será de ti?...
O avô apertou contra o peito a cabeça do neto e beijou-o.
- Espera aí - disse Lionka, saindo do seu mutismo, libertando os cabelos de linho dos dedos nodosos e trémulos do avô. - Que dizes? É tudo poeira? As cidades... e tudo o que existe?
- Foi Deus que fez tudo assim, meu filho! Tudo nasce da terra e a terra é poeira. E tudo morre em cima da terra... É assim mesmo! É a razão por que o homem deve viver no trabalho e na humildade. Olha, também eu morrerei, e não tardará muito... - prosseguiu ele, acrescentando com tristeza: - Para onde irás então, sem mim?
Lionka tinha ouvido muitas vezes o avô fazer aquela pergunta e estava fatigado de meditar sobre a morte;
170
voltou a cabeça sem dizer nada, arrancou uma folha de erva, pô-la na boca e começou a mastigá-la lentamente. Mas aquilo no avô era um ponto sensível.
- Por que não dizes nada? Como te arranjarás sem mim? - perguntou novamente, com suavidade, inclinando-se para o neto e recomeçando a tossir.
- Já disse... - prosseguiu Lionka, distraído e descontente, olhando de esguelha para o avô.
Não gostava daquele género de conversas, entre outras razões porque acabavam quase sempre numa briga. O avô falava longamente da aproximação da sua morte. Ao princípio, Lionka ouvia-o com muita atenção, asustava-se com a novidade da situação que se lhe representava e chorava, mas pouco a pouco começou a fatigar-se, deixou de ouvir, abandonava-se aos seus próprios pensamentos; o avô apercebia-se disso, zangava-se, lamentava-se dizendo que Lionka não o amava, que não se preocupava com a sua angústia e, por fim, acusava-o de lhe desejar a morte.
- E disseste o quê? Ainda és um tolinho, não podes compreender o que é a tua vida. Que idade tens? Onze anos! És frágil, não tens grande capacidade para o trabalho. Para onde irás? Julgas que haverá pessoas boas para te ajudar? Se tivesses dinheiro não faltaria quem te ajudasse a gastá-lo, disso podes estar certo. Pensas que é divertido, na minha idade, andar a pedir esmola? Temos de nos curvar diante de todos, de pedir a todos. Somos insultados, às vezes batem-nos, põem-nos fora... Pensas que consideram o mendigo como um homem? Não. Há dez anos que ando pelo mundo, sei muito bem o que digo. Dão-te um pedaço de pão como se dessem uma nota de mil, e acabando de o dar imaginam que têm abertas as portas do Paraíso. Pensa bem, que motivo, os leva a fingir que são generosos? É para se porem em paz com a sua consciência, apenas para isso, meu pequeno. Atiram-te uma côdea e assim já não se envergonham de comer. É apenas por isso, não penses que é por terem pena de ti. O tipo que come de modo a saciar toda a fome é um selvagem, e nunca tem pena do que tem a barriga vazia. O saciado e o faminto serão sempre inimigos, olharão
171
sempre um para o outro como cães prontos a engalfinharem-se. Não há possibilidade de se comoverem e de procurarem entender-se...
O avô animou-se sob um sentimento de rancor e desgosto. Os lábios tremiam, viam-se-lhe os olhos mortiços rolar entre as pestanas e as pálpebras avermelhadas, e, no rosto sombrio, as rugas apareciam mais profundas.
Lionka não gostava de o ver naquele estado e sentia um pouco de medo.
- Pergunto-te o que vais fazer no mundo? És um garoto débil e o mundo um animal selvagem. O mundo devorar-te-á rapidamente. E eu não quero que isso aconteça... Gosto de ti, compreendes, e cada um de nós só tem a companhia do outro... Como é que posso morrer?... Não posso morrer e deixar-te... Deixar-te para quem?... Meu Deus!... Por que fazes sofrer assim o teu servo? Não tenho forças para viver e não posso morrer porque está aqui esta criança, tenho de a proteger. Cuidei dela durante sete anos... nos meus velhos braços... Senhor, ajuda-me!
O avô sentou-se e chorou, com a cabeça escondida entre os joelhos trémulos.
O rio corria para longe, marulhava ruidosamente contra a margem como se quisesse abafar daquele modo o pranto do velho. O céu sem nuvens sorria, luminoso, irradiava um calor de fogo e ouvia tranquilamente o ruído tumultuoso das ondas perturbadas.
- Basta, não chore mais - disse Lionka com um tom severo, os olhos fixados no longe, acrescentando depois, já a olhar para o avô: - Já falamos disso tudo mais do que uma vez não foi? Cá me arranjarei. Baterei à porta de uma taverna qualquer...
- Levarás pancada... - gemeu o avô cheio de lágrimas.
- Veremos! Não, não me baterão - gritou Lionka com uma espécie de desafio na voz. - Não me deixarei maltratar com essa facilidade.
Mas ao dizer isto Lionka deteve-se e, após um silêncio, acrescentou, mais baixo:
- Senão, irei para o convento.
172
- Deus queira que possas ir-suspirou o avô, animando-se; mas um novo ataque de tosse dobrou-o em dois.
Por cima das cabeças deles ouviu-se um grito e um ranger de rodas...
- Ó da jangada! - o apelo gutural vibrou no ar com inesperado vigor.
Levantaram-se imediatamente, apanhando os cajados e os alforges.
Na areia tinha penetrado um carro, e as rodas rangiam violentamente. No carro vinha um Cossaco, em pé, com a cabeça coberta por uma gorra de veludo inclinada para a orelha; preparava-se para gritar, aspirava o ar, a boca muito aberta e enchia todo o largo peito. Dentes brancos brilhavam na moldura de uma barba negra e sedosa que subia até aos olhos injectados de sangue. Debaixo da camisa desabotoada e sob o casaco atirado negligentemente para os ombros via-se um corpo peludo, bronzeado. E tudo nele, como no cavalo branco e preto, bem carnudo, também enorme, e nas rodas do carro altas e reforçadas com chapa de ferro, dava a impressão de força, de saúde, de vigor...
- Ei!... Eil...
O avô e o neto tiraram os bonés e inclinaram-se profundamente.
- bom dia! - saudou o recém-chegado com voz sonora; depois de ter olhado para a outra margem onde uma jangada negra abandonava lenta e desajeitadamente os salgueiros, examinou os mendigos dos pés à cabeça.
- São da Rússia?
- Somos, sim, meu misericordioso senhor! - respondeu Arkhip, inclinando-se.
- Lá, rebenta-se de fome, hem?1
Saltou abaixo do carro e pôs-se a apertar mais um furo na cilha do cavalo.
- As próprias baratas morrem de fome!
- Ah! Ah! Até as baratas! Quer dizer, não vos resta nada, comeram tudo? Para comer vocês são fortes. Mas
1 Referência aos terríveis anos de fome que foram 1891-92. A acção do conto passa-se na região do Cáucaso (N. do T.).
173
para trabalhar deve ser outra história... Porque quando se trabalha não falta de comer.
- A terra não produz, meu bom senhor. Esgotámos a terra.
- A terra? - O Cossaco abanou a cabeça. - A terra deve produzir sempre, para isso foi dada ao homem. Diz antes que não é a terra, que são os braços. Os braços são maus. Entregue a boas mãos a terra não resiste, produz.
A jangada aproximava-se.
Dois robustos cossacos, de cara vermelha, com as pernas solidamente apoiadas no chão da jangada, empurravam-na contra a margem com estrondo; balançaram o corpo, lançaram o cabo e começaram a resfolegar.
- Está calor? - perguntou o recém-chegado arreganhando os dentes num sorriso, levando a mão ao chapéu e conduzindo o cavalo para dentro da jangada.
- Frio, não está! - respondeu um dos passadores, mergulhando as mãos nos bolsos das calças de balão e aproximando-se do carro; lançou-lhe um olhar e mexeu o nariz, respirando profundamente.
O outro sentou-se no chão e, gemendo, pôs-se a tirar as botas.
O avô e Lionka subiram para a jangada e encostaram-se na amurada, a olhar para os cossacos.
- Vamos embora! - ordenou o dono da carroça.
- E não trazes nada para beber? - perguntou-lhe o que tinha examinado o carro. O seu colega tinha tirado as botas e piscava os olhos examinando o interior dos canos.
- Não! E depois? Não há água bastante no Kuban?
- Água?... Eu não falava de água!
- Ah! bom, era de aguardente que falavas! Não, não trago aguardente.
- Como é que isso é possível? - comentou o outro, pondo os olhos no chão, pensativo.
- Vamos lá, toca a andar.
O cossaco cuspiu na mão e agarrou no cabo. O passageiro deu-lhe uma ajuda.
- E tu, avô, por que não ajudas? - disse o outro, entretido com a bota, dirigindo-se a Arkhip.
174
- Como é que eu poderia, amigo? - respondeu o velho, com voz cantante, num tom lastimoso, abanando a cabeça.
- Também não vale a pena. Eles se arranjarão sozinhos! - E, como se desejasse convencer o velho da veracidade daquelas palavras, caiu pesadamente de joelhos e deitou-se no chão da jangada.
O companheiro injuriou-o indolentemente e, como não recebesse resposta, bateu ruidosamente com os pés no chão, com força.
Impelida pela corrente que lhe batia surdamente nos flancos, a jangada avançava devagar, balançando e estremecendo.
Lionka olhava para a água, sentia a cabeça andar um pouco à roda, e os olhos, fatigados pelo curso rápido da corrente, colavam-se-lhe com sono. O cochichar abafado do avô, o ranger do cabo e o chapinar sonoro embalavam-no; sentia-se de tal modo fatigado que desejava deixar-se cair no chão, para dormir, mas de repente qualquer coisa lhe fez perder o equilíbrio e ele tombou.
com os olhos muito abertos olhou à sua volta. Os cossacos riam-se dele, amarrando a jangada a um tronco queimado da margem.
- Então, estás a cair de sono! Não te aguentas em pé? Sobe para o carro, levo-te até à aldeia. Sobe também, avô.
O avô agradeceu ao Cossaco com voz voluntariamente fanhosa, e subiu para o carro a gemer. Lionka saltou depois; partiram açoitados por turbilhões de poeira fina, e o avô recomeçou a tossir convulsivamente.
O Cossaco entoou uma canção. Cantava com sons estranhos, interrompia as notas bruscamente e terminava-as com um assobio. Dir-se-ia que desenrolava os sons como fios de um novelo, cortando-os quando encontrava um nó.
As rodas rangiam lastimosamente, a poeira rodopiava. O velho abanava a cabeça, tossia sem descanso e Lionka pensava que daí a pouco estariam na aldeia cossaca e seria preciso começar a cantar debaixo das janelas: "Pelas chagas de Nosso Senhor, Jesus Cristo..."
175
Os garotos recomeçariam a provocá-lo, e as mulheres a importuná-lo com perguntas acerca da Rússia. Nessas ocasiões não gostava de olhar para o avô que não parava de tossir e se dobrava de tal modo que ele próprio, Lionka, se sentia mal e sofria; o velho falava com a sua voz chorosa, soluçava e contava o que nunca tinha acontecido em parte alguma... Dizia que na Rússia as pessoas morriam no meio da rua e ali ficavam, que não havia ninguém para retirar os cadáveres porque todos andavam tontos com a fome... Eles nunca tinham visto nada semelhante em parte nenhuma mas era necessário contar aquelas coisas para obterem as esmolas. Mas aqui, que se podia fazer às esmolas? Na terra deles podiam vender a comida à razão de quarenta copeques, e mesmo meio rublo, cada quinze quilos, mas aqui ninguém queria. Depois era preciso atirar para a estepe alforges inteiros com coisas boas.
- Vocês vão pedir esmola pelas portas? - perguntou o Cossaco contemplando por cima do ombro os dois vultos crispados.
- Tem de ser, meu senhor! - respondeu o avô Arkhip, com um suspiro.
- Põe-te em pé, avô, para veres onde moro. Depois de darem a volta podem vir dormir a minha casa.
O velho tentou levantar-se mas oscilou, caiu, bateu com as costelas contra o rebordo da carroça e soltou um gemido abafado.
- Cuidado, velhote! - resmungou o Cossaco, compadecido. - Não faz mal, não é preciso olhar; quando forem horas de dormir, perguntas onde mora o Tcherny, André Tcherny, sou eu. Agora desce. Adeus.
O avô e o neto ficaram diante de um grupo de choupos. Para lá dos troncos viam-se telhados, cercas, e por toda a parte, de um lado e do outro, viam-se outros grupos das mesmas árvores. A folhagem verde estava coberta por uma poeira cinzenta e a casca dos troncos, grossos e direitos, estava fendida pelo calor.
Diante dos dois mendigos alongava-se entre dois tapumes um beco estreito; internaram-se nele com o passo fatigado das pessoas que já caminharam muito.
176
- Como vamos fazer, Lionka? Seguimos juntos ou cada um pelo seu lado?-perguntou o avô; e sem esperar resposta acrescentou: será melhor irmos juntos, a ti dão-te tão pouco. Não sabes pedir...
- E para quê? De qualquer maneira não poderás comer tudo... - respondeu Lionka com ar sombrio, passeando os olhos em redor.
- Para quê, meu tolo?... Supõe que de repente encontras comprador? Aí está, para quê! Receberás dinheiro. E o dinheiro é um grande trunfo. com ele tens possibilidades de te safar, quando eu morrer.
Rindo carinhosamente o avô afagou a cabeça do neto.
- Sabes quanto eu juntei durante o caminho?
- Quanto? - perguntou Lionka, indiferente.
- Onze rublos e meio... Estás a ver!
Mas nem o tom entusiasmado do avô, nem a importância anunciada, causaram impressão em Lionka.
- Ah!, meu pequeno, meu pequeno! - suspirou o avô.
- Então, cada um de nós vai pelo seu lado?
- Eu prefiro...
- bom... encontrámo-nos junto da igreja.
- Está bem.
o avô enfiou pelo beco e voltou à esquerda, Lionka, prosseguiu a direito. Mal tinha dado dez passos ouviu uma voz trémula: - "Meus benfeitores, gente caridosa..." Aquele apelo fazia pensar no ruído de uma mão passeada ao acaso, sobre um saltério desafinado, da corda mais grossa à mais fina. Lionka estremeceu e estugou o passo. De cada vez que ouvia aquelas súplicas sentia irritação e uma espécie de tristeza; mas quando o avô recebia uma negativa perdia completamente a coragem, certo de que o velhote a seguir ia rebentar em soluços.
Ainda chegavam até ele as notas trémulas e lastimosas que flutuavam no ar dormente e pesado da aldeia cossaca. Tudo à sua volta estava tão calmo como durante a noite. Lionka aproximou-se do tapume e sentou-se à sombra de uma cerejeira cujos ramos se alongavam sobre a rua. Algures zumbia sonoramente uma abelha...
1 No original o instrumento indicado é precisamente um gúsli que é uma variante do saltério (N. do T.).
177
Lionka tirou o alforge do ombro e pousou nele a cabeça; contemplou o céu durante alguns instantes através da folhagem por cima dele e adormeceu, com um sono profundo, abrigado dos olhares de quem passava pela erva espessa e alta e pela sombra quadriculada do tapume...
Foi arrancado ao sono por sons estranhos que oscilavam no ar, agora já mais fresco com a aproximação da noite. Alguém chorava ali perto. Era um choro de criança, raivoso e interminável. O pranto extinguia-se numa nota aguda, menor, depois rebentava novamente e espalhava-se com uma força renovada, cada vez mais próximo. Levantou a cabeça e olhou para a rua através das ervas daninhas.
Era uma rapariguinha que caminhava em direcção a ele; tinha perto de sete anos, vestia com asseio, e limpava constantemente com a barra da saia branca as lágrimas que lhe sulcavam o rosto congestionado. Caminhava lentamente, arrastando os pés descalços e erguendo uma poeira espessa, evidentemente sem saber onde ia nem o que procurava. Tinha olhos grandes, escuros, agora ofendidos, tristes e húmidos, orelhas róseas e delicadas que espreitavam com petulância entre os caracóis castanhos, despenteados, que lhe caíam para a testa, para as faces e para os ombros.
Lionka achou-a engraçada, apesar das lágrimas, divertida e alegre... Devia ser brincalhona, não havia dúvida!...
- Por que choras? - perguntou ele, levantando-se, quando ela lhe ia passar ao lado.
Ela sobressaltou-se e parou; de repente deixou de chorar, mas os soluços mantinham-se. Olhou-o durante alguns segundos, depois os lábios estremeceram novamente, o rosto cobriu-se de rugas, o peito arquejou, o choro recomeçou ruidosamente e afastou-se.
Lionka sentiu qualquer coisa crispar-se dentro de si e partiu também, na esteira dela.
- Não chores. Uma miúda já tão crescida, não tens vergonha? - começou ele a dizer ainda antes de a ter alcançado; depois, ao colocar-se a seu lado, encarou-a
178
bem e perguntou outra vez: - Vá, por que é esse choro todo?
- Ai! Ai! - gemeu ela. - Se fosse contigo... - e de repente deixou-se cair sobre a poeira do caminho, tapou o rosto com as mãos, e gemeu desesperadamente.
- Ora, ora! - Lionka fez um gesto que exprimia desdém.- Não passas de uma mulher!... Tal e qual, uma mulher!... Ora!
Mas aquilo não resolvia nada, nem para ela nem para ele. Vendo as minúsculas lágrimas a correr entre os dedos finos e rosados, a tristeza invadiu-o e teve vontade de romper também em pranto. Inclinou-se, ergueu uma das mãos cautelosamente e tocou-lhe os cabelos com carinho. Mas ao mesmo tempo assustou-se com a sua própria audácia e retirou a mão. Ela continuava a chorar e não dizia nada.
- Estás a ouvir? - prosseguiu Lionka, depois de um momento de silêncio, impulsionado por uma necessidade premente de a auxiliar. - Que tens? Bateram-te? Se foi isso não te aflijas... isso passa! Ou é por outra coisa que choras? Fala, pequena!
Sem tirar as mãos do rosto, a rapariguinha abanou a cabeça tristemente e depois, através dos soluços, acabou por responder lentamente, encolhendo os ombros.
- Perdi... o meu lençol... Um lenço que o pai me tinha trazido da feira... era azul, com flores, tinha-o posto para sair e perdi-o! - Recomeçou a chorar cada vez mais forte, soluçando e soltando um estranho gemido: - o-o oh!
Lionka sentiu que não podia socorrê-la; afastou-se timidamente e olhou com ar pensativo e triste o céu que escurecia. Sentia-se angustiado e a rapariguinha inspirava-lhe compaixão.
- Não chores!... Talvez o encontres... - murmurou ele suavemente. Mas via bem que os seus esforços para a consolar não resultavam e afastou-se ainda mais, pensando que talvez o pai a castigasse... Imaginou imediatamente o pai, um Cossaco de grande estatura, com cabelos pretos, no acto de lhe bater e a pequena, com o rosto banhado de lágrimas, trémula de medo e de dor, arrastando-se-lhe aos pés.
179
Levantou-se e foi-se embora, mas deu apenas cinco ou seis passos; voltou-se bruscamente, parou em frente dela apoiado contra o tapume e tentou recordar-se de palavras meigas e amáveis...
- Devias sair do meio da rua, rapariguinha! Vá, pára de chorar. Vai para casa e conta tudo o que se passou. Dizes que o perdeste... que tem isso de mal?
Tinha começado com um tom suave e compassivo, e, quando terminou com uma expressão indignada, ficou alegre por ver que ela se levantava do chão.
- Ora bem, já estás melhor! - prosseguiu ele com um sorriso e mais animado. - Vai já para casa! Se quiseres vou contigo e contarei tudo. Não tenhas medo, farei por te defender.
E Lionka moveu os ombros altivamente, depois de ter olhado à sua volta.
- Não... não é preciso... - murmurou ela, sacudindo lentamente a poeira do vestido e soluçando como anteriormente.
- Se quiseres, posso ir-declarou em voz alta Lionka, com absoluta decisão e inclinando o boné para a orelha.
Agora estava diante dela, solidamente plantado em cima das pernas e os andrajos que vestia pareciam animar-se com aquela coragem. Batia com o pau na terra, com firmeza, e fixava obstinadamente a rapariguinha, enquanto os grandes olhos tristes se iluminavam com uma sensação de orgulho e de coragem.
A rapariguinha olhou-o de lado, enxugou as lágrimas do rosto espalhando-as com as mãos e disse, com um novo suspiro:
- Não venhas, não pode ser... A mãe não gosta dos mendigos.
E afastou-se, depois de se ter voltado duas vezes.
Lionka sentiu-se enfadado. Insensivelmente, com movimentos lentos, modificou a sua atitude provocadora, curvou-se novamente, tornou-se humilde e, lançando para o ombro o alforge que até aí tinha tido pendente do braço gritou para a rapariguinha que acabava de dobrar a esquina do beco:
- Adeus!
180
Ela tinha-se voltado para ele, ao caminhar, e tinha desaparecido.
A noite aproximava-se e o ar estava cheio daquele calor especial, sufocante, esmagador, que anuncia a tempestade. O sol estava baixo e os cimos dos choupos tingiam-se de uma leve vermelhidão. Mas as sombras nocturnas que começavam a envolver-lhes os ramos tornavam mais altas e espessas as suas silhuetas esguias e imóveis... Por cima deles o céu também escurecia, adquiria tons de veludo e parecia descer mais para a terra. Algures ao longe ouviam-se vozes a falar, e ainda mais longe, mas do outro lado, alguém cantava. Aqueles sons fracos mas cheios pareciam nutrir-se igualmente daquela atmosfera abafada.
Lionka aborrecia-se cada vez mais e sentia um certo receio. Tinha vontade de ir ter com o avô; olhou à sua volta e avançou pelo beco com passo rápido. Não tinha vontade de pedir esmola. Caminhava e sentia o coração bater no peito muito depressa, muito depressa, e tinha uma espécie de preguiça especial em caminhar e pensar...
Mas a rapariguinha não lhe saía da cabeça e perguntava a si mesmo o que faria ela agora. Se fosse de uma família rica bater-lhe-iam: todos os ricos eram avarentos. Se fosse pobre talvez não apanhasse... Nas casas pobres as crianças eram mais estimadas porque se contava com o seu trabalho. Uns atrás dos outros estes pensamentos agitavam-se-lhe na cabeça incessantemente e a cada momento uma sensação de angústia, constrangedora e lancinante, que se agarrava como uma sombra aos seus pensamentos, pesava-lhe cada vez mais, apossava-se dele.
As sombras da noite tornavam-se mais abafadas, mais densas. Alguns cossacos, homens e mulheres, cruzavam-se com Lionka e passavam sem lhe prestar atenção; tinham já o hábito daquela vaga de mortos-de-fome que vinha da Rússia. O rapazinho deixava também deslizar o olhar embaciado, preguiçosamente, sobre aqueles vultos fartos e maciços, e caminhava com passo estugado para a igreja cuja cruz brilhava atrás do arvoredo.
181
Vinha ao seu encontro o ruído de um rebanho que reentrava. Ali estava a igreja baixa e larga, com cinco cúpulas pintadas de azul, rodeada de choupos cujos cimos tinham crescido mais alto do que as cruzes do templo, inundadas pelos raios do poente resplandecendo através da verdura com reflexos de um rosa dourado. E ali está o avô que se aproxima do adro, curvado sob o peso do alforge, olhando para os lados com a mão colada na fronte.
Seguia-o um cossaco com um andar pesado, o chapéu muito enterrado na cabeça e um pau na mão.
- O teu saco está vazio, não - perguntou o avô avançando para o neto que o esperava junto do gradeamento. - Mas eu, olha...-e tirou dos ombros, arquejante, pousando-o no chão, o alforge de pano cheio a rebentar.- Uf! As pessoas aqui são caridosas. É bom! Por que estás tu com essa cara?
- Dói-me a cabeça... - disse vagarosamente Lionka, sentando-se no chão, ao lado do avô.
- Sim!... Estás cansado... não podes mais! bom, vamo-nos deitar já. Como se chama aquele Cossaco? Hem?
- André Tcherny.
- Bem, vamos perguntar onde ele mora. Olha, há um homem que vem para aqui... São boas pessoas, que não têm fome... E só comem pão de trigo. Boa noite, meu senhor!
O cossaco chegou junto deles e disse lentamente em resposta ao cumprimento do velho:
- Boa noite!
Depois ficou bem firme em cima dos pés, olhou fixamente os mendigos com olhos sem expressão, sem falar, e coçou a nuca.
Lionka estava intrigado, o avô piscava os olhos com ar interrogativo, o cossaco mantinha-se calado e acabou por apanhar a ponta do bigode com a língua. Quando concluiu aquela operação com êxito, atraiu o bigode da mesma forma e quebrou por fim aquele silêncio que se tornara angustioso dizendo com voz arrastada:
- Venham comigo ao posto.
182
- Por quê? - O avô sobressaltou-se; Lionka sentiu um arrepio que o percorria até ao fundo.
- Tem de ser. São ordens. Vamos.
Voltou-lhes as costas e ia começar a andar mas olhou para trás e viu que nem um nem outro se mexia; gritou então, desta vez com voz zangada:
- De que estão à espera?
Então os dois seguiram-no a toda a pressa.
Lionka tinha os olhos fixos no avô; quando se apercebeu que os lábios e a cabeça lhe tremiam e o viu lançar à sua volta olhos receosos, apalpando o interior das roupas, teve a sensação de que o velho tinha mais uma vez feito disparates, como um dia em Taman. Dessa vez tinha roubado roupa num quintal e tinha sido apanhado com ela. Os cossacos tinham-nos injuriado, tinham-se rido deles e tinham chegado a bater-lhes, expulsando-os da aldeia, já de noite. Tinham-na passado algures na margem da baía, na areia, e o mar tinha esbravejado até de manhã de um modo ameaçador... A areia rangia sob a ressaca. E durante todo o tempo o avô tinha gemido e rezado, chamando larápio a si próprio e implorando o perdão de Deus.
- Lionka...
Uma pancada nas costas sobressaltou a criança: olhou para o avô cujo rosto se tinha alongado, era agora mais seco e mais escuro e não parava de tremer.
O cossaco seguia cinco ou seis passos à frente, fumava cachimbo, cortava com o pau as cabeças das bardanas e não se voltava.
- Pega nisto... atira-o para o mato... mas repara bem, para o virmos buscar depois - cochichou o avô, com voz quase imperceptível; encostou-se ao neto enquanto caminhava e passou-lhe para a mão um retalho de pano feito numa bola.
Lionka afastou-se a tremer de medo, com um arrepio que o percorria todo. Aproximou-se da vedação onde as ervas daninhas cresciam em abundância. com os olhos postos nas costas largas do cossaco que os precedia, estendeu a mão e atirou o pano para as ervas.
183
Ao cair, o tecido abriu-se e Lionka viu um lenço azul com flores que cedeu imediatamente o lugar à imagem da rapariguinha lavada em lágrimas. Ergueu-se diante dele como se estivesse ali, e Lionka já não via o cossaco, nem o avô, nem nada do que o cercava... Tinha outra vez nos ouvidos o ruído dos soluços e teve a impressão de que caíam diante de si lágrimas transparentes... Foi quase em estado de inconsciência que entrou no posto atrás do avô, que ouviu um zunir abafado que não podia, nem queria compreender, e viu, como que através de um nevoeiro, pedaços de pão saírem do alforge do avô para cima da mesa, fazendo um ruído suave e abafado ao chocarem contra a madeira. Depois numerosas cabeças cobertas com gorros altos inclinaram-se para aquele espólio; as cabeças e os gorros eram sombrios e taciturnos e, através da névoa que as envolvia, proferiam terríveis ameaças, balançando-se. Depois o avô que balbuciava palavras com voz rouca passou a girar como um pião nas mãos de dois rapagões avantajados.
- Vocês estão enganados, irmãos -ortodoxos! Estou inocente, Deus é testemunha! - gritou o velho com voz esganiçada.
Lionka rompeu em pranto e deixou-se cair no chão.
Então aproximaram-se dele, levantaram-no, sentaram-no num banco e revistaram os andrajos que lhe cobriam o corpo franzino.
- A Danilovna mente, essa filha do diabo! - gritou alguém com voz de trovão. Aquela voz forte e irritada zumbiu desagradàvelmente aos ouvidos de Lionka.
- Certamente esconderam-no em qualquer parte gritou outra voz em resposta, ainda mais forte.
Lionka tinha a sensação de que todos aqueles ruídos eram outras tantas pancadas que recebia na cabeça e o medo foi tão grande que perdeu os sentidos; como se de repente se tivesse aberto diante de si um abismo sem fundo onde ele mergulhasse.
Quando voltou a si a cabeça repousava nos joelhos do avô; por cima dele inclinava-se a cabeça do velho, mais lastimosa e enrugada do que habitualmente; os olhos piscavam com medo e deixavam tombar na sua testa
184
lágrimas de perturbação que lhe faziam cócegas e lhe rolavam para as faces e para o pescoço.
- Estás melhor, meu pequeno? Vamo-nos embora, vamo-nos, eles deixaram-nos em paz, aqueles cachorros amaldiçoados.
Lionka ergueu-se com a sensação de a cabeça ter sido irrigada com um pesado líquido e de lhe estar prestes a cair. Segurou-a com as mãos, abanou-a de um lado para o outro, gemendo baixinho.
- Dói-te a cabeça, meu filho? Meu querido... Judiaram connosco... os selvagens! Tinha desaparecido um punhal, e uma meninota perdeu um lenço, resolveram acusar-nos... Oh! Senhor!... Por que nos castigas assim?
A voz rangente do avô parecia arranhar Lionka e ele sentia acender-se nele uma faísca dolorosa que o levava a afastar-se do velho. Afastou-se e olhou em redor.
Estavam sentados à saída da aldeia sob a sombra densa de um ulmeiro negro e disforme. A noite tinha caído, a lua tinha-se levantado e o luar leitoso e prateado que inundava o espaço plano da estepe parecia torná-lo mais acanhado do que era de dia, mais acanhado, mais deserto e mais triste. No longe, no horizonte da estepe que se confundia com o céu erguiam-se nuvens que vogavam vagarosamente, escondiam a lua e projectavam para a terra sombras densas. As sombras colavam-se com o solo, deslizavam lentamente pensativamente e desapareciam de súbito; dir-se-iam que mergulhavam para debaixo da terra, nas fendas abertas pelos ardentes raios solares. Chegavam vozes vindas da aldeia e aqui e além acendiam-se luzinhas que cintilavam como que em resposta à luz das estrelas, de um dourado vivo.
- Vamos embora, meu filho... Temos de partir - disse o avô.
- Deixe-se estar mais um bocado! - disse Lionka baixinho.
Gostava da estepe. De dia, ao percorrê-la, aprazia-lhe olhar para longe, para a linha em que a abóbada celeste se apoia no largo peito da planície. Imaginava que lá longe havia extensas e maravilhosas cidades, habitadas por pessoas bondosas como ele nunca tinha visto, a quem
185
não teria necessidade de pedir pão porque lho dariam espontaneamente, sem se fazerem rogar... Mas quando a estepe, estendendo-se cada vez mais à sua frente, revelava subitamente diante dos seus olhos uma aldeia cossaca que ele já conhecia, semelhante, pelas suas construções e pelos seus habitantes, a todas que já vira antes, sentia-se triste e despeitado por mais aquele engano.
Agora olhava pensativamente para o horizonte de onde vinham lentamente as nuvens rastejantes. Para ele eram como o fumo de milhares de chaminés daquela cidade que ele tinha tanta vontade de ver... A tosse seca do avô interrompeu-lhe a meditação.
Lionka olhou fixamente o rosto banhado de lágrimas que aspirava o ar avidamente.
Iluminado pelo luar e coberto de sombras estranhas que eram projectadas pelo pêlo revolto do boné, pelas sobrancelhas e pela barba, com aquela boca que se movia convulsivamente e esses grandes olhos abertos, iluminados por um êxtase secreto, aquele rosto tinha algo de assustador e de lastimável e despertava em Lionka esse sentimento novo que o obrigava a afastar-se do avô...
- Bem, fiquemos, fiquemos um pouco mais! - murmurava este, enquanto remexia, com um sorriso estúpido, nos andrajos junto da axila. Lionka voltou-se e pôs-se de novo a contemplar o horizonte.
- Lionka!... Olha!... - exclamou subitamente o avô
com voz triunfal. Todo dobrado pela tosse que o sufocava estendeu ao neto um objecto comprido e brilhante. - Em prata! É de prata!... Vale cinquenta rublos.
As mãos e os lábios tremiam de cupidez e de dor; todo o rosto era uma careta.
Lionka estremeceu e afastou-lhe a mão.
- Esconda isso, depressa!... Ah!, avô, esconda-o! cochichou ele com voz suplicante, olhando rapidamente para os lados para se assegurar de que não havia ninguém.
- Que tens tu, meu patetinha? Tens medo?... Ora... Vio numa janela, ao passar, pus-lhe a mão em cima e zás, debaixo da roupa... Depois escondi-o nas ervas. Quando
186
saímos da aldeia, fingi que o boné me tinha caído, baixei-me e apanhei-o... Que palermas aqueles! E o lenço também o apanhei, olha-o!
com as mãos trémulas extraiu o lenço para fora dos farrapos e agitou-o diante do rosto de Lionka.
Aos olhos da criança o véu de nevoeiro rasgou-se e descobriu a seguinte cena: Lionka e o avô caminham, o mais depressa que podem, ao longo da rua da aldeia. Evitam os olhares dos transeuntes, seguem, assustados, e Lionka tem a sensação de que se tem o direito de lhes bater, de lhes cuspir, de os insultar... Tudo o que os cerca, muros, casas, árvores, oscila num estranho nevoeiro como que agitado pelo vento... e ouvem-se zumbir vozes surdas, irritadas... A rua nunca mais acaba e não se vê a saída da aldeia para lá da massa compacta das casas oscilantes que ora vêm para eles como que dispostas a esmagá-los, ora se afastam para longe, para melhor se rirem deles com as manchas escuras das suas janelas... E de repente a uma das janelas rebenta um grito: - Ladrões, ladrões, tu és um ladrão, um ladrãozinho!... Lionka lançou para o lado um olhar fugidio e apercebeu à janela a rapariguinha que encontrara a chorar e que pretendera defender... O olhar dela cruzou-se com o dele, pôs-lhe a língua de fora, os olhos, de um azul escuro, faiscaram com uma cintilação dura e má e picaram Lionka como agulhas.
Esta cena surgiu no espírito do rapaz e desapareceu instantaneamente sem deixar outra marca além do sorriso mau que lançou ao rosto do avô.
O velho continuava a falar, interrompendo-se para tossir, agitava as mãos, sacudia a cabeça e enxugava o suor que aparecia nas rugas da cara em grossas gotas.
Uma nuvem grande, esfarrapada, escondeu a lua. Lionka quase não via o rosto do avô. Mas ao lado imaginou a rapariguinha banhada em lágrimas, evocou-lhe a figura e mediu-os a ambos com o pensamento. O velho, enfermo, ávido, esfarrapado ao lado da menina que ofendera, chorosa mas sadia, fresca, bela; o mais velho parecia-lhe um ser inútil, quase tão mau e repugnante como o "Kostchei"
187
lendário. Era possível? Por que tinha ferido? Não pertencia à sua família...
E o avô ia gemendo:
- Se eu pudesse juntar cem rublos!... então morreria em paz...
- Caramba! - algo se inflamou subitamente em Lionka. - Cale-se! Morre, morre!... Mas não morre nada! É um ladrão! - gritou Lionka, pondo-se de. pé, com todo o seu corpo trémulo e voz esganiçada. - É um velho ladrão, é o que é! Suma-se! - Apertou o punho seco diante do nariz do avô que se tinha calado, e deixou-se cair pesadamente para o chão, continuando a dizer entre dentes: - Roubou uma criança... bela coisa... Um velho a fazer coisas dessas... Pensa que lhe perdoarão isso no outro mundo?
De repente toda a estepe vibrou e se alargou envolta numa luz de um azul ofuscante... A névoa que a vestia estremeceu e desapareceu durante um momento... O trovão reboou e rolou surdamente pela estepe fora, sacudindo-a toda ao mesmo tempo que o céu, no qual avançava com rapidez uma densa multidão de nuvens negras onde a lua se afogava.
Ficou tudo escuro. Ainda longe, silencioso mas ameaçador, brilhou um relâmpago e, após um segundo, o trovão rugiu novamente embora mais fraco... Depois veio uma calma que parecia não dever acabar.
Lionka benzeu-se. O avô permanecia sentado, imóvel e silencioso, como se estivesse unido ao tronco da árvore a que se encostara.
O céu estremeceu uma vez mais, de novo jorrou uma chama azul e atirou para a terra um possante golpe metálico. Dir-se-ia que milhares de placas de zinco se projectavam no solo, chocando-se umas contra as outras.
- Avô! - gritou Lionka.
O grito, abafado pelo eco do trovão, ressoou como uma pancada dada num pequeno sino fendido.
- Que tens? Tens medo? - disse o avô com voz
rouca, sem se mexer.
Começaram a cair grossas gotas de chuva cujo crepitar soava misteriosamente como uma advertência. Ao
188
longe expandia-se como um ruído contínuo, amplo, semelhante ao roçar de uma enorme vassoura varrendo a imensa terra seca; mas aqui, ao lado do avô e do neto, cada gota produzia, ao cair, um som curto e seco, e morria sem eco. Os trovões aproximavam-se constantemente e o céu abrasava-se com maior frequência.
- Não irei para a aldeia... Deixarei que a chuva me afogue... sou um cachorro, um ladrão... a tempestade pode-me matar! - disse o avô, suspirando. - Não irei... vai sozinho... Está aí, a aldeia... Vai, não quero que fiques aqui... vai-te embora!... Vai!... Vai!...
Agora o avô gritava com voz abafada e rouca.
- Avôzinho, perdoa-me! - suplicou Lionka aproximando-se dele.
- Não vou... não te perdoarei... Tratei de ti durante sete anos... fiz tudo por ti... vivi para ti. Acaso tenho necessidade de alguma coisa? vou morrer... vês... vou morrer... e tu tratas-me de ladrão ...Sim, mas por que me fiz ladrão? Por ti... tudo isso era por ti... Toma, pega... pega... pega... Para a tua vida, a tua vida toda, eu ia juntando e, sim, claro, também roubei... Deus sabe tudo... Ele sabe que roubei... sabe-o... Ele me castigará, não perdoará os meus roubos... a mim, um velho cachorro como eu. E já me castigou... Meu Deus, castigaste-me! Ha! Castigaste-me... mataste-me pela mão de uma criança. É verdade, Senhor! Está certo! Meu Deus, tu és justo!... Manda buscar a minha alma... Oh!...
A voz do avô elevou-se de um modo penetrante e esganiçado, lançando o terror no coração de Lionka.
Os trovões que sacudiam a estepe e o céu rugiam agora tão violentos e tão apressados que se poderia crer que cada um deles desejava comunicar à terra uma mensagem urgente e necessária; perseguiam-se e rugiam quase sem cessar. O céu rasgado pelos relâmpagos era percorrido por um arrepio, a estepe também, ora abrasada por uma chama azul, ora mergulhada novamente na escuridão fria, pesada e compacta que a diminuía estranhamente. Por vezes um relâmpago iluminava o horizonte longínquo que parecia fugir à pressa daquele alarido.
189
A chuva começou a desabar e as gotas, que à luz dos relâmpagos adquiriam um brilho de aço, esconderam as luzes da aldeia que tremeluziam hospitaleiras.
Lionka estava petrificado de horror, de frio, e também da angústia de se sentir confusamente culpado depois do grito do avô. Fixava diante de si os olhos arregalados, tinha até receio de pestanejar mesmo quando lhe caíam nas pestanas as gotas de água que lhe deslizavam da cabeça molhada e prestava atenção à voz do avô afogada naquele oceano de sons furiosos.
Lionka sentia que o avô não se mexia, mas parecia-lhe que era seu dever desaparecer, partir para qualquer parte e deixá-lo ali sozinho. Sem reparar aproximou-se pouco a pouco e quando o cotovelo tocou no avô estremeceu na expectativa de algo de terrível.
Um relâmpago raspou o céu e iluminou aqueles dois seres apertados um contra o outro, crispados, minúsculos, transidos pela bátega que os galhos das árvores despejavam, i
O avô agitava a mão no ar e continuava a resmungar, mas mais fatigado e arquejante.
Lionka encarou-o e soltou um grito de horror... Na luz azul do relâmpago o rosto parecia morto e os olhos baços que se moviam pareciam dementes.
- Avô!... Vamo-nos embora!...-gritou ele, escondendo a cabeça entre os joelhos dele.
O velho inclinou-se para ele, enlaçou-o com os seus braços magros e ossudos, apertou-o fortemente contra si e, ao mesmo tempo que o apertava, pôs-se a uivar como um lobo apanhado na armadilha.
Aquele uivo tornou Lionka quase louco e, soltando-se do abraço do avô, pôs-se em pé e lançou-se como um raio, a direito, os olhos muito abertos, cego pelos relâmpagos, caindo, levantando-se e mergulhando cada vez mais nas trevas que ora desapareciam sob o brilho azul das faíscas, ora se apertavam em torno dele, que corria louco de medo.
A chuva que caía mantinha o seu ruído frio, monótono e triste. E parecia que na estepe nada mais havia salvo o ruído da chuva, o brilho dos relâmpagos e o estrondo irritado dos trovões.
190
No dia seguinte, alguns garotos da aldeia que tinham ido dar uma volta pelos arrabaldes voltaram para trás rapidamente e deram o alarme, declarando que tinham visto sob um ulmeiro o mendigo da véspera e que devia ter sido morto porque junto dele estava um punhal.
Mas quando os velhos cossacos vieram ver verificaram que não era verdade. O velho ainda estava vivo. Quando se aproximaram dele tentava levantar-se do chão mas não conseguiu. Tinha perdido o uso da palavra e interrogava-os a todos com os olhos lacrimejantes, prescrutava a multidão, mas não encontrava nada e não recebia qualquer resposta.
Morreu à boca da noite e enterraram-no onde o tinham encontrado, sob o ulmeiro negro, achando que não era conveniente enterrá-lo no cemitério: em primeiro lugar era um estranho, em segundo era um ladrão, e em terceiro tinha morrido sem confissão. Perto dele, na lama, encontraram o punhal e o lenço.
Dois ou três dias depois encontraram Lionka.
Por cima de uma ravina da estepe, perto da aldeia, bandos de corvos tinham começado a rodopiar; quando foram ver a causa encontraram o rapaz, estendido, com as mãos afastadas e o rosto mergulhado na lama líquida que a chuva deixara no fundo da ravina.
Inicialmente, resolveram enterrá-lo no cemitério porque era uma criança, mas pensando melhor acabaram por o sepultar ao lado do avô sob a mesma árvore. Cobriram-no com um monte de terra onde cravaram uma tosca cruz de pedra.
191
192
A MENDIGAZINHA
- Agora vou dar uma volta - disse em voz alta Paulo Andreiévitch; pôs a pena de lado, bocejou, estendeu-se no sofá e começou a assobiar melancolicamente.
O trabalho tinha corrido bem, sentia-se bem disposto e contente. No dia seguinte pronunciaria duas alegações sem grande importância, depois discursaria mais duas vezes... e terminaria a sessão. Poderia fazer umas curtas férias e dar um salto à Crimeia, dar uma vista de olhos ao mar amável e ao céu tórrido do Meio-Dia... Já tinha reputação de orador talentoso e de bom jurista; tinha o direito de esperar, em futuro próximo, a sua nomeação como procurador e a vida não lhe parecia fatigante nem desagradável; se a olhasse de muito perto era triste, mas era acaso necessário olhá-la assim? Tinha muitas dúvidas de que pudesse resultar qualquer coisa, a não ser um milhão de tormentos, de uma tal atitude para com essa existência de que se tinha tão frequentemente tentado decifrar os mistérios, sem no entanto o conseguir; e era muito incerto que alguma vez se conseguisse esse objectivo.
- O destino fixou toda a nossa existência de antemão
- disse, sem sequer reparar no que dizia, Paulo Andreiévitch, deixando-se deslizar para a filosofia de Lambertuccio, e, assobiando aquele estribilho de opereta num
193
tom melancólico que não lhe ficava bem, sorriu, bocejou logo a seguir e, levantando-se, gritou:
- Efime!
Depois, contente consigo mesmo, mas com circunspecção, passeou o olhar à sua volta.
O seu gabinete de trabalho, guarnecido com um mobiliário confortável, sem demasiada ostentação mas de uma beleza segura, agora largamente inundado pelos raios do jovem e vivo sol dos últimos dias de Abril, olhava-o com tanta ternura e alegria clara que isso reforçava nele ainda mais a boa e agradável sensação do prazer de viver.
- Efime! - chamou, uma vez mais.
Pela abertura do reposteiro marron que dissimulava a porta sob as pesadas e sumptuosas pregas, apareceu uma cabeça grisalha e luminosa que fixou em Paulo Andreiévitch, expressivamente, um par de olhos, idosos e bons, afogados no adorno dos anéis prateados da barba e das sobrancelhas.
- vou dar um passeio, meu velho! Arranja o samovar para as sete horas. Não preciso mais nada.
- E se perguntarem por si?
- Volto logo. Mas não deve vir ninguém.
- Podem vir visitas.
- Ora, ora, que visitas queres tu que nos venham ver, ha?
- É verdade que nunca vem cá ninguém.
- Então para que fazes a pergunta?
- Por uma questão de princípio. Deve ser assim: nas boas casas o criado faz sempre essas perguntas aos patrões quando eles resolvem ausentar-se.
- Ah! Bom!-E com um sorriso céptico e amável, Paulo Andreiévitch vestiu o casaco e saiu.
A rua, muito limpa e ainda húmida da neve recentemente desfeita, estava deserta mas bela, de uma beleza austera e um pouco pesada. As grandes casas brancas, de cornijas ornadas com molduras e cujas paredes ganhavam, entre as janelas, um delicado tom róseo provocado pelos raios primaveris do crepúsculo, olhavam o mundo com uma concentração e uma gravidade filosóficas. A neve tinha-as, ao fundir, lavado das poeiras, e elas
194
erguiam-se quase lado a lado, limpas, frescas, saciadas. E por cima delas o céu tinha um brilho sério, luminoso e satisfeito.
Paulo Andreiévitch caminhava e, sentindo-se em completa harmonia com o que o cercava, pensava preguiçosamente que a vida era bela quando não se lhe exigia muito, e que eram bem presunçosos e estúpidos aqueles que, possuindo copeques, exigiam que a vida lhes desse rublos. Estranha raça! A vida ensinava-os, bem rudemente, mas eles continuavam, apesar de tudo, a agitar-se, incapazes de colocarem as suas capacidades em harmonia com os seus desejos...
Entregue a estes pensamentos, de um modo mecânico e tranquilo, insensivelmente e sem propósito consciente, chegou até ao cais.
Diante dele, ao fundo, havia o mar, brilhando com frias cintilações sob os raios do sol prestes a esconder-se ao longe, no horizonte. O rio, tal como o céu que nele se espelhava, ostentava uma calma solene. Nem vagas, nem rugas de ondulação polida e fria em que mergulhava languidamente a fita de veludo púrpura e ouro do poente. Ao longe, já envolto pela leve névoa azul dourada da noite, via-se uma estreita banda de terra: separava a água do céu sem nuvens, tão deserto como o rio que cobria... Como seria bom planar, como pássaro livre, entre os dois, fendendo com asas poderosas o ar fresco e azulado...
- Meu senhor, por amor de Deus, uma moeda para comprar pão... Por favor, não tenho trabalho, não comi nada em todo o dia... Não posso aguentar mais... Excelência, por amor de Deus...
Paulo Andreiévitch teve um sobressalto. Vozes que gemiam, um tenor cana rachada e um barítono rouco e desesperado, fendiam o ar sem lhe dar tréguas e feriam-lhes os ouvidos.
Diante dele estavam dois personagens um rapazote de cerca de vinte anos, com um machado numa das mãos, na outra um velho boné rasgado, vestido com um casaco de mulher cujos numerosos buracos deixavam passar os forros e enchumaces; e um aldeão de cerca de cinquenta anos, curto casaco de pele, sapatos rotos, boné escuro,
195
sujo, metido no cinto. No rosto do rapaz, cor de terra, frio e seco, tinha-se petrificado uma expressão lamentosa e ávida; achava o modo de exprimir ao mesmo tempo a expectativa de uma esmola e uma atenção obsequiosa e suplicante. O aldeão, cujo rosto estava todo velado sob os cabelos revoltos que lhe caíam para a testa e pela barba emaranhada como uma trança, fixava o solo obstinadamente e murmurava sem esperança, extraindo do peito os sons com uma espécie de desinteresse. O jovem cantarolava a sua prece à maneira de uma rápida melopeia, dir-se-ia que com receio de não ser ouvido até ao fim e de, por isso, não ter tempo de enumerar todas as causas que o tinham reduzido à mendicidade.
- Basta! - disse Paulo Adreiévitch com irritação, levando rapidamente a mão ao bolso.
Mas então produziu-se algo de estranho que o espantou a ponto de quase lhe fazer perder a calma.
- Senhor, meu amável senhor! Não lhes dê nada a eles!... Não lhes dê!... Eles já juntaram trinta e cinco copeques... São uns aldrabões!... Meu senhor, dê-me a mim!... Dê, meu bom senhor, dê a uma rapariguinha que precisa de pão, por amor de Deus!
Paulo Andreiévitch sentiu alguém agarrar-se-lhe energicamente à mão que tinha no bolso, agarrar-se e puxá-la, ao mesmo tempo que gritava, com voz estridente de soprano, palavras de lamento, palavras de uma súplica ardente.
Era uma espécie de bola suja e viva, com a cabeça profundamente mergulhada nas pregas do sobretudo de Paulo Andreiévitch, e essa bola rodava e volteava tão rapidamente - uma verdadeira enguia - que era praticamente impossível verificar exactamente o que aquilo era... Três vozes gemiam a concurso, e aquele barulho ensurdecedor fazia crescer nele uma irritação aguda.
- Calem-se! Desapareçam! - gritou ele. Mas a sua apóstrofe autoritária teve pouco efeito.
- Oh, meu Deus! - exclamou ele com um suspiro profundo de barítono, tirando esta exclamação do mais fundo do seu ser.
196
- Tu és o nosso benfeitor - recomeçou o tenor, em tom agudo, com trémulos.
- Eles mentem, meu senhor, não acredite! Eles já juntaram trinta e cinco copeques!... E quando tocarem as Avé-Marias vão para o adro e roubam por lá outro tanto... São uns malandros, uns vadios...
- Cala-te, já disse!-vociferou uma vez mais Paulo Andreiévitch com voz de trovão; praguejou energicamente e logo a seguir lançou à sua volta um olhar preocupado.
Mas o cais estava deserto e ninguém podia notar-lhe a irritação. com um movimento violento arrancou então do sobretudo a bola tenaz que ali se radicara e ergueu-a com a mão até à altura dos olhos... Mas tão surpreendido ficou que baixou logo a mão, o que fez rolar pelo passeio o ser que nela se debatia, sem cessar no entanto de pedinchar com voz de soprano rachada e sonora.
Paulo Andreiévitch fechou os olhos durante um segundo, soltou um profundo suspiro, meteu numa das mãos que se estendiam para ele alguns trocos, fez um gesto de irritação em resposta às bênçãos reconhecidas onde ressoava uma espécie de estranho constrangimento e tristeza, e curvou-se para o pequeno ser vivo, embrulhado nos seus farrapos, precisamente no momento em que este, como uma bola de borracha, se afastava do piso da calçada com um salto: o monte de andrajos sujos que dele pendiam, sacudidos por aquele movimento brusco, fê-lo assemelhar-se a alguma horrorosa e gigantesca borboleta nocturna.
- Meu senhor, um copeque também para mim!... Dê'me, por amor de Deus! - e novamente a minúscula criatura turbilhonou nas pernas do jurista como um pião.
- Espera aí, espera aí! - murmurava Paulo Andreiévitch desconcertado, examinando-a com atenção.
Era uma rapariguinha de rosto claro de seis a sete anos, extraordinariamente viva e incrivelmente esfarrapada. O pequeno corpo estava inteiramente coberto por andrajos apertados na cintura por uma fita vermelha igualmente rasgada; só a cabeça minúscula se libertava e permitia classificá-la na espécie humana. Tinha sido precisamente aquela cabeça que deixara estupefacto Paulo
197
Andreiévitch, um homem que conhecia a beleza e admirava todas as graças. com aquela estatura infantil era, apesar dos farrapos sujos que a cobriam, ou talvez precisamente em virtude desses mesmos farrapos que faziam sobressair a pele e a delicadeza daquele pequeno rosto, uma beleza fascinante. Os finos anéis dos cabelos escapavam-se-lhes para a testa e para as faces e estremeciam, deixando transparecer através deles a carnação colorida, viva, de um rosa admirável. O narizinho que parecia talhado a buril, de narinas levemente inchadas de excitação, róseas e transparentes, os làbiozinhos vermelhos, agitados por um tremor nervoso, finos e bem desenhados, o queixo bem redondo ornado com uma suave e encantadora covinha e os grandes olhos de veludo azul, tudo isso tomado em conjunto com os farrapos faziam-na parecer-se estranhamente com um monte de detritos em cujo centro tivesse desabrochado uma flor de uma beleza sem par, de caprichoso encanto. Mas ela, sem parar, fazia jorrar palavras lamentáveis de baixa lisonja com a sua fina voz de soprano, e isso destruía a ilusão.
- Espera aí, espera!... - dizia Paulo Andreiévitch, agora com irritação.
Tinha vontade de que ela se calasse, deixasse de se agitar daquela maneira e lhe desse tempo para a examinar em pormenor. Caminhava lentamente ao longo do passeio pensando no meio de a fazer calar... Dar-lhe esmola? Agradecer-lhe-ia. Levá-la a casa dele? Que absurdo! Ao mesmo tempo que pensava assim, repetia para si próprio, deslumbrado: "Mas que beleza! Uma beleza angelical, precisamente, angelical."
- Dê-me meu bom senhor... A minha mãe está em casa, doente, tenho um irmão que ainda mama... dê-ê-me, em-no-me-de...
- Acaba com isso, espera. Darei, darei, estás a perceber? Muito. Mas cala-te. Espera. Diz-me primeiro de onde vens. De onde é a tua família? Quem é o teu pai?, e a tua mãe? Há muito tempo que fazes isso... quero dizer, que pedes esmola?
No pequeno rosto que se erguia para ele dois olhos azuis encaravam-no, puerilmente confiantes, e despertavam
198
involuntariamente em Paulo Andreiévitch sentimentos agitados que lhe eram desconhecidos e o impeliam a acções excepcionais. Olhou à sua volta... A rua estava deserta, a noite envolvia-a pouco a pouco com a sua sombra macia. Então pegou na mão da rapariguinha e partiu, esforçando-se por regular os seus passos pelo saltitar apressado da criança. Não o conseguia e dava ele próprio uma espécie de saltos, ora a ultrapassando, ora deixando-se distanciar; e ela saltitava, ao lado, puxando pela mão e falando tão alto que toda a rua podia ouvir.
- Mas eu sou daqui. A gente vive lá em baixo, no arrabalde. O pai morreu. Foi por causa do vodka. A mãe também morreu, por causa dele, ele batia-lhe muito, muito.., Agora vivo em casa da tia Nissa. Ela diz-me sempre:; "Minha palerminha se não arranjas bastante massa arrasto-te pelas tranças, vais ver!" A tia Nissa fala assim... Está sempre zangada, também ela... Meu bom senhor...
- Espera aí, já te disse que te darei. Mas olha lá, tinhas-me dito que a tua mãe e o teu irmão estavam em casa, doentes...
- É a tia Nissa que me manda, para meter mais pena. Quando a gente não mete pena ninguém nos dá nada, diz ela. "Meu diabinho, tem cuidado, não tragas pouco. Mente o mais que puderes, é o que ela diz sempre, senão ninguém tem pena de ti... É preciso que tenham pena para te darem."
A aguda e sonora voz de soprano da criança suscitava nele, com força cada vez maior, pensamentos estranhos, pouco habituais. Caminhava lentamente, pensativamente, solidamente embrulhado no sobretudo, prestando atenção à música das palavras; pensou que ela devia certamente ter bastante frio naquela fresca tarde de primavera, olhou maquinalmente para os pés dela e sentiu um arrepio desagradável. Os sapatos sujos e rebentados que se chocavam contra a calçada rapidamente, com um barulho forte, de cada vez que ela levantava o pé bem alto. "sorriam" abertamente e esse sorriso mostrava os dedos dos pés, sem meias e molhados, vermelhos de frio.
199
E como estava suja e esfarrapada!... Levantou a cabeça e percorreu a rua com os olhos.
Duas filas de casas, altas e frias, olhavam, com ar rebarbativo, através das manchas sombrias das janelas, Paulo Andreiévitch e a sua companheira. Pareciam descontentes com o procedimento dele, de que ele permitisse àquela pobreza badalar tão alto.
Paulo Andreiévitch, a quem a conversa da criança tinha mergulhado numa espécie de hipnose angustiada e se sentia fatigado, exausto, pensou subitamente que seria muito ridículo se algum dos seus conhecimentos o encontrasse em semelhante companhia. Já o consideravam um pouco misantropo pela simples razão de se recusar a relações muito íntimas, embora o não fizesse de modo algum por ódio dos homens. Muito simplesmente, achava que não convinha colocar as pessoas no que se chama em pé de intimidade, de amizade, porque semelhantes relações estabelecem a obrigação absurda de lhes ouvir intermináveis histórias sobre as mais diversas banalidades, sobre as suas intrigas, a saúde, o carácter da mulher e outros acontecimentos banais da vida quotidiana, inclusive até a doença de intestinos. Para que serviam essas conversas vazias e vulgares? Tudo aquilo não tinha importância, era inútil. A tranquilidade, a contemplação, às vezes a curiosidade, mas uma curiosidade sem paixão, sem o esquecimento de si-próprio, eis a vida normal. O mundo interior do homem contemporâneo é tão complexo e variado que a estudá-lo se pode satisfazer totalmente e plenamente a sede vaidosa que a inteligência tem de conhecer cada vez mais. Quanto ao mundo dos fenómenos exteriores, esse é demasiado enervante, esgota muito rapidamente o homem que pretende viver com simplicidade e em paz. Quanto mais isolado se está dos outros homens mais feliz se é, porque a felicidade é a paz e nada mais. Que necessidade tinha então daquela rapariguinha andrajosa, de uma beleza angélica, ele, Paulo Andreiévitch, procurador-substituto e homem de pontos de vista bem assentes sobre a existência? Ela era o prólogo de um drama penoso e estúpido que ele não desejava ver.
200
Conhecia-os, esses dramas simples, conhecia até demais, para o seu gosto. Tinha pena dela, e depois? Como poderia ajudá-la? Evidentemente que não poderia ser com dinheiro, que a tia Nissa devoraria. Não via outras soluções. Por que diabo não lhe parava então de zumbir nos ouvidos aquela triste canção de mosquito? Para que servia tudo aquilo? Ora; como tudo aquilo era anormal e estúpido!
Largando a mão da criança, Paulo Andreiévitch tirou o porta-moedas e pôs-se a pensar. Quanto lhe havia de dar? Um rublo podia melhorar momentaneamente a situação, mas podia também fazer crescer o apetite da tia Nissa e ao fim de três dias faria piorar a situação da criança.
- Aqueles dois nunca se fartam... Já têm trinta e cinco copeques e ainda pedem. Se eu já tivesse arranjado trinta e cinco copeques tinha voltado para casa! dizia a rapariguinha em tom de censura.
Paulo Andreiévitch notou que os olhos dela tinham um brilho seco como não se vê nas crianças. O corpinho contraído com frio tinha diminuído ainda mais e os andrajos tinham-se eriçado estranhamente. Ela parecia-se agora com uma pequena coruja abatida, de penas arrancadas. Imaginou-a de noite, sozinha, caminhando pela rua fria e silenciosa no meio das casas de uma grandeza esmagadora. Era um quadro triste... Mas que podia fazer dela? Sentiu-se novamente obrigado a fazer qualquer coisa. Um homem de temperamento filantrópico teria rapidamente encontrado uma saída para aquela situação embaraçosa; um homem vulgar nem sequer a teria notado; ao passo que ele, como se via, tinha perdido pura e simplesmente o pé.
O furor contra si próprio começava a invadi-lo; mas nesse momento chegou à porta da moradia onde habitava e pensou que o melhor era fazer com que a criança dormisse aquela noite no quarto de Efime, e talvez lhe viesse de manhã uma ideia.
- Vens a minha casa! - disse ele à rapariguinha que se encostava à porta friorentamente; depois tocou à campainha.
201
Ela não se admirou, não disse nada e até se enfiou com vivacidade, à frente dele, na abertura da porta, roçando pelas pernas de Efime.
Paulo Andreiévitch respondeu com um sorriso malicioso à interrogação muda do criado, despiu o sobretudo, ordenou à sua convidada: - Despe-te! e a Efime: - Lava-a! - esfregou energicamente as mãos ligeiramente geladas uma na outra, entrou no quarto e sentou-se diante da mesa numa poltrona macia e profunda.
Diante dele estremecia e suspirava o samovar, e pelo orifício da tampa escapava-se-lhe um fio de vapor com um leve assobio. Nesse assobio Paulo Andreiévitch acreditou sentir algo de zombeteiro e no ferver abafado da água um certo descontentamento.
Pousou os cotovelos na mesa e, fechando os olhos um hábito muito seu e muito querido - imaginou a sua convidada vestida com um vestido limpo, penteada e lavada... Era um quadro idealmente belo.
- E onde quer que a ponha? - perguntou Efime metendo a cabeça pela porta.
Paulo Andreiévitch voltou-se para ele.
- Qual é a tua opinião, Efime?
- Mas que fazer, senão dar-lhe o chá e mandá-la embora para casa dela? vou levá-la - decidiu o criado.
- Hum! - Paulo Andreiévitch voltou a mergulhar nos seus pensamentos. - Está bem, seja!
Lançou o chá. Apreciava o chá da noite. Era bom sonhar e respirar aos sons da melancólica canção do samovar no quarto inundado com a luz rósea do candeeiro... E que silêncio, que delicioso silêncio... Mas hoje, no seu apartamento, havia novos sons, havia a voz aguda da convidada no quarto de Efime. Ela não parava de contar qualquer coisa, sem se cansar, e em raros intervalos a voz de baixo de Efime interrompia-a por tempo muito curto. Que espera amanhã aquela rapariguinha? Que a espera dentro de dez anos?
- Safa! Em que disposição melancólico-filantrópica me vou mergulhar! Que matéria de reflexão se pode, no fundo, encontrar aqui? Ajudá-la? Miopia e disparate. Há milhares destas crianças pelas ruas e nenhum esforço
202
isolado lhes melhorará a situação. Além disso há nela já, sem dúvida, instintos que a educação não poderia vencer e que se desenvolveriam com o tempo. Deus a abençoe, coitada!... No melhor dos casos virá a ser uma cortesã, se for inteligente, é claro...
Mas Paulo Andreiévitch sentia que não conseguia pensar bem, nesse dia, por qualquer ângulo que lhe pegasse: eram apenas lugares comuns que produzia, e nem um só pensamento original e pessoal... Por quê? De qualquer maneira que pensasse era-lhe impossível esgotar o problema que aquela rapariguinha lhe punha: alguma coisa ficava que as palavras eram impotentes para definir alguma coisa de perturbante e de desagradável... Não era acaso a consciência das suas obrigações para com aquela criança, apesar de tudo um ser humano, que despertava nele? Era pouco provável... Era muito pouco provável que semelhante obrigação existisse As leis da vida em sociedade, as leis da moral e, na generalidade, todas as leis possíveis e imagináveis, não eram, com toda a probabilidade, senão construções lógicas artificiais, excelente prova dos bons sentimentos e das boas intenções dos seus autores mas nada mais.
- Efime! - chamou Paulo Andreiévitch - que lhe aconteceu?
- Adormeceu, senhor! - anunciou Efime com voz enternecida.
- Adormeceu? Hum! Que vamos fazer agora?
- Deixemo-la até amanhã, não faz mal. E amanhã de manhã entrega-se. Que mal pode fazer? Está a dormir, não aborrece ninguém. Não parava de chilrear. Trinta e cinco copeques, dizia ela... Para ela trinta e cinco copeques devem valer cem rublos. Tinha graça. Alguém deve ter arranjado, segundo parece, esses trinta e cinco copeques.
- Eu sei, eu sei. bom, deixemo-la dormir, então disse Paulo Andreiévitch com ar distraído.
- É isso! Que Deus a abençoe. Agora tenho de sair, senhor, se me dá licença! - disse Efime.
- bom, e a miúda?
203
- Não faz mal nenhum. Está a dormir. De resto não me demoro muito.
- bom, então vai lá. Mas anda depressa, senão ela acorda e não sei o que lhe hei-de fazer.
- Fazer o quê? Não há nada a fazer. Avisarei a cozinheira, no caso de ser preciso qualquer coisa... - comentou Efime, um pouco admirado. Depois desapareceu.
Paulo Andreiévitch acendeu um cigarro e estendeu-se na poltrona. O samovar calou-se. Agora todo o quarto estava cheio com o tiquetaque do relógio de parede.
"É preciso mudar aquele relógio, o pêndulo faz muito barulho... Mas aqui Paulo Andreiévitch ficou surpreendido: sentia uma sensação muito bizarra. Uma espécie de medo de pensar; uma coisa completamente nova. Algures, dentro dele, movia-se um sentimento agitado, pouco habitual, que exigia ser formulado de uma maneira obsessiva. "São disparates! São tudo disparates", - disse a si mesmo para expulsar os seus pensamentos. Mas depois de ter ficado estendido um momento, sentiu que lhe era indispensável levantar-se e ir ver como dormia a rapariguinha.
Ergueu-se e, ao passar diante de um espelho, viu no seu próprio rosto um sorriso confuso e pouco seguro. Sentiu-se mal.
"Hoje não devo estar bom!" pensou. Tentava impor a razão a si mesmo mas não o conseguia.
Ali está diante dele a cama de Efime, coberta com uma cortina de chita. Atrás daquela cortina ouve-se uma respiração regular e profunda. Paulo Andreiévitch pegou num candeeiro de parede, afastou a cortina e olhou.
A criança dormia de barriga para o ar, o rosto levantado, livre em cima da almofada. Os caracóis semeavam-lhe todo o rosto com finos anéis de cabelo e os làbiozinhos entreabertos num sorriso deixavam ver minúsculos dentes brancos. O peito delicado subia e descia com tal regularidade e toda ela era tão bonita e tão frágil, tão sozinha, tão digna de compaixão...
Paulo Andreiévitch franziu os sobrolhos e afastou-se rapidamente. Quando regressou à poltrona sentiu que a sua boa disposição se tinha alterado por muito tempo e
204
que isso não era tudo, parecia... "Talvez isto me leve a arrepender-me do meu egoísmo com grande alegria dos senhores idealistas e de outros amadores do sentimentalismo", perguntava a si próprio, frio e cáustico. "Irei arrepender-me e encher-me humildemente do cuidado virtuoso do próximo e da sua sorte?" Sentia que esses pensamentos lhe deixavam um gosto amargo e triste. Por mais esforços que fizesse não conseguia esquecer que no seu apartamento, além da sua vida, bem equilibrada e pacífica, havia mais uma vida, uma vida por agora embrionária e insignificante; no futuro aquilo seria uma lamacenta e penosa história, talvez mais longa... Ainda não era mau de todo se ela se mantivesse estúpida e vegetativa, mas se a consciência lhe despertava?... Seria uma luta sem fim, torturante, que acabaria pela sua derrota. "E pode acontecer que eu, então procurador, demonstre aos jurados, tal como dois e dois serem quatro, a necessidade de meter esta rapariguinha na cadeia. Que ironia da sorte!"
Fechou os olhos e, baixando a luz do candeeiro, alongou-se na poltrona e deixou-se ficar imóvel.
Uns atrás dos outros os pensamentos nasciam e misturavam-se-lhe na cabeça; e quando, por um minuto, os afastava com esforço, sentia-se impotente, miserável, escravo, culpado. Todo aquele caos de sensações era tão enevoado e tão confuso.
"Por que trouxe eu a miúda?" perguntava a si próprio. "Dez pessoas lhe deram esmola e passaram, e eram decerto homens de ideias menos assentes, homens mais sensíveis que eu. Sem dúvida. Por quê, então, serei eu precisamente quem deve sofrer por ela?" Mas ao chegar àquele ponto achou-se ridículo... "Perguntar isso é perguntar por que razão um pedaço de cornija caiu em cima da cabeça de uma certa pessoa e não de uma outra. Esta rapariguinha é, também ela, uma brincadeira fortuita do destino..."
Um suor frio atingia-lhe a testa e algo o oprimia, impedindo-o de respirar. Tirou o casaco e o colete, desabotoou o colarinho da camisa e fechou novamente os olhos.
Enquanto tirava a roupa notou que o reposteiro se agitava de uma maneira estranha, mas não prestou atenção.
205
Absorto nos seus pensamentos, na penumbra melancólica da sala, estava estendido com os olhos fechados e o tempo parecia-lhe decorrer com uma lentidão insuportável apesar do tiquetaque apressado do pêndulo...
De repente julgou ouvir uma espécie de roçar muito leve... Abriu os olhos e sobressaltou-se: o reposteiro, fora do lugar, cobria completamente a porta e mexia suavemente, afastado pela mão delicada da criança. Sem se mexer, Paulo Andreiévitch observava com os olhos semi-cerrados, retendo a respiração, esforçando-se por não trair por meio de qualquer som a sua presença ali. Sobre o fundo do reposteiro apareceu a cabeça cor de ouro da sua convidada: ela rodava em todos os sentidos com precaução, examinando o aposento. Os olhos azuis, infantis, estavam muito abertos, sérios e cheios de uma resolução que não se vê habitualmente nas crianças. O candeeiro dava uma luz suficiente para que se distinguissem os menores aspectos do rosto. A concentração tornava-o menos belo, mas mais fantástico e mais fascinante. Vários anéis de cabelo se tinham caprichosamente erguido acima da fronte, formando uma espécie de coroa iluminada. O pequeno rosto, agora bem lavado, era pálido apesar da luz rósea do candeeiro que o iluminava delicada e suavemente, e os olhos pareciam, a Paulo Andreiévitch, muito mais belos do que antes.
Agora ergueu com precaução o pé direito, fino e bonito, e deu um passo para a mesa onde está pousado o candeeiro e um sem número de bibelots. Deu mais um passo e voltou a cabeça para o lado de Paulo Andreiévitch... Então sobressaltou-se e fez um movimento rápido para a porta, batendo as mãos e estendendo-as para a frente como se se preparasse para fugir. Paulo Andreiévitch esforçou-se por respirar de uma maneira regular e suficientemente forte para que ela a ouvisse.
Ela, imóvel, com os lábios entreabertos e uma expressão de terror infantil no pequeno rosto de anjo, olhava na direcção dele e prestava atenção.
O vestido sujo era apertado e curto, viam-se-lhe as pernas até aos joelhos e os braços saíam abertamente das
206
mangas, um único botão o apertava na cinta e o pescoço branco e fino estava descoberto, assim como uma parte do peito. Paulo Andreiévitch desejou desaparecer sem ruído, deixando ali somente os olhos. Mas, tendo-se, certamente persuadido de que ele dormia profundamente, foi até junto da mesa em três movimentos vivos e silenciosos como os de um gato. Apoiou os cotovelos na beira da mesa, pousou a cabeça nas mãos sorriu com um sorriso aberto e dobrou a perna esquerda bem alto sob o vestido. Depois o rosto exprimiu a admiração e o prazer; abanou a cabeça e, tomando nas suas mãos, com precaução, um pisa-papéis que reproduzia uma ursa com dois ursinhos, puxou-o para si e inclinou a cabeça; depois, como que temendo tocá-lo com as mãos pousou-o e voltou a cabeça para a esquerda e para a direita examinando-o com uma expressão de deslumbramento, sorrindo e murmurando baixinho através dos lábios pequenos e vermelhos, enquanto os caracóis estremeciam e se espalhavam pela mesa. A seguir afastou o pisa-papéis com devoção e precaução e pegou no cinzeiro; repetiu com ele, escrupulosamente, o mesmo processo de exame, afastou-o e passou assim em revista todos os objectos que se encontravam em cima da mesa; depois, soltando um suspiro, apoiou-se novamente sobre os cotovelos e pôs-se a olhar... Lembrou-se então de qualquer coisa, subitamente, deixou a mesa, e, voltando-se para Paulo Andreiévitch, aproximou-se dele com o seu andar elástico e silencioso de gatinho.
Paulo Andreiévitch ficou muito espantado e todos os músculos se lhe contraíram. Mas o seu espanto esteve prestes a traduzir-se num grito quando ela se aproximou da cadeira em que tinha pousado as roupas e se pôs a revistá-las; depois largou-as e sentou-se no chão a seus pés. Ele não conseguia compreender nada. Não podia agora ver ao certo o que ela fazia e conteve com muita dificuldade o impulso de se voltar para tomar uma posição que lhe permitisse observá-la. A curiosidade agia sobre ele como uma queimadura.
Ouviu um ruído de moedas a cairem em cima da carpete.
207
Paulo Andreiévitch teve um sobressalto e compreendeu...
O seu primeiro movimento foi o de se levantar e de a tirar dali; mas alguma coisa o impediu. Manteve-se deitado e ouvia as moedas roçarem umas nas outras, nas mãos dela. "Ela rouba!... É uma ladra!..." pronunciou dentro de si Paulo Andreiévitch, mas sentiu que essas palavras não eram aplicáveis a uma rapariguinha de caracóis dourados, a uma maravilhosa pobreza das ruas. Ouvia e os pensamentos picavam-lhe o cérebro, uns atrás dos outros, como agulhas...
Ouviu cochichar muito baixo:
- Isto são dez copeques... e isto também. E isto... e isto; mas este é grande. Isto já faz trinta e cinco... e mais! Oh! Oh, oh!... Anda ver agora! Ainda não te chega?... Velha miserável!...
Paulo Andreiévitch sentiu que esta cena se lhe tornava insuportável e que era necessário pôr-lhe fim. Mas como? Como? Acordar? Ela ficaria louca de medo...
Subitamente ouviu um ruído de passos no quarto de Efime e soltou um suspiro de alívio.
- Ai, mas que grande malandra!
A rapariguinha não tinha ouvido nem os passos nem o ruído, mas ouviu a exclamação estupefacta de Efime.
Pondo-se em pé com um salto, precipitou-se para a porta e atrás dela, soando como uma denúncia, rolaram as moedas de prata e bronze. Efime estava na porta com uma expressão de espanto assustado. Ela caiu em cheio nos braços que se estendiam para ela.
- Tiozinho!...-exclamou ela num tom suplicante e angustiado.
- Ah, canalha!... - murmurou Efime com voz grave.
- És então uma ladra, hem?... Eu vou-te dizer...
Paulo Andreiévitch decidiu que era tempo de entrar em cena.
- Efime! - gritou ele erguendo-se do sofá; e aproximando-se da porta perguntou severamente: - Que barulho é este?
- Ela estava a roubar, senhor! - murmurou Efime, desconcertado, segurando firmemente a rapariguinha nas
208
mãos e passeando bizarramente um olhar estupefacto da criança a Paulo Andreiévitch. - Ela rouba e...
A criança, trémula de medo e de emoção, apertava-se contra ele esforçando-se por se esconder.
- Abrigámo-la no nosso seio, por assim dizer e ela... é assim que nos paga!... - dizia Efime. - Queria-nos assaltar. Uma amostra de gente como esta! Hem! Uma criança e vejam lá!... Já faz tudo como uma pessoa grande. Ah!, tu... tu... garota suja... Caramba! Como é possível, meu Deus, já roubar nesta idade?
Paulo Andreiévitch sentiu grande vontade de que tudo aquilo acabasse o mais depressa possível... E com o tom da mais perfeita indiferença, com uma pressa bizarra que espantou Efime ainda mais do que o tom, disse:
- Pega num rublo, aluga um fiacre e leva-a para casa dela. Depressa, percebes? Prepara-te num instante e põe-te a caminho. Leva-a e entrega-a à família. E não digas nada acerca disto... Ou melhor, sim, conta-lhes tudo o que se passou. Vá, anda lá.
Efime calou-se e lançando um olhar especialmente atento para o patrão, enfiou a pelica e pôs-se a envolver a toda a pressa nos seus andrajos a rapariguinha muda que se mantinha apertada contra ele.
- Vá. vamos! - disse ele quando acabou de a vestir; saiu rapidamente da sala, levando a criança suavemente adiante de si.
Paulo Andreiévitch mantinha-se de pé, junto da porta.
- Cocheiro! - ouviu ele chamar, na rua. O carro aproximou-se num rolar de trovão e deteve-se junto do portal. Depois ouviu-se-lhe novamente o ruído abafado, como um protesto.
Então Paulo Andreiévitch voltou para o quarto, aumentou a luz do candeeiro e sentou-se à mesa onde cinco minutos antes a rapariguinha examinava os objectos. Parecia-lhe que tinham tomado agora um aspecto novo, uma espécie de marca estranha. Estava sentado e olhava-os com uma concentração sombria.
- Tão cedo não conseguirás esquecer isto, caramba!
- disse ele, em voz baixa. - Não! Vai levar muito tempo.
Deixou o sofá e aproximou-se da janela com emoção.
209
A noite estava escura e calma. As casas em frente, envoltas nas trevas, eram frias e desagradáveis.
- Como é estranho!... Como é feio! - murmurou Paulo Andreiévitch num tom arrastado, apoiando a fronte no vidro húmido e frio. Sentia-se quebrado... Desde há algum tempo tentava afastar-se da vida e parecia-lhe ter conseguido, parecia-lhe que a vida nunca mais o poderia atingir, perturbar as relações de indiferença que com ela mantinha; que estava garantido contra esses pensamentos e emoções penosas perdidos atrás, lá longe, que outrora o tinham atormentado... E eis que novamente eles ressurgiam... Já tinham novamente irrompido na sua alma!
- Será verdadeiramente possível ser livre? Não se sentir obrigado a fazer tal ou tal coisa, sofrer por outrém? Bem. Mas se é assim, é uma escravatura! - Limpou com a palma da mão a fronte molhada e caminhou ao longo do aposento. - Devem ser os meus nervos! Apenas os nervos? E isto... passará depressa?
O pêndulo soltava o seu tiquetaque rápido e brusco: tiquetaque, tiquetaque, tiquetaque! O quarto estava deserto e frio e extraordinariamente silencioso. Nunca aquele quarto tinha estado tão silencioso.
210
UM FACTO EXCEPCIONAL
Nicolas Dudotchka tinha-se por um filósofo e essa circunstância era uma das causas dos seus passeios dominicais ao cemitério. Conhecia três filósofos que tinham adquirido também singularidades daquele tipo: Spinosa gostava de observar a vida e os costumes das aranhas e ria-se alegremente quando elas se devoravam umas às outras; a exactidão de Emmanuel Kant constituía para as outras; a pontualidade de Emmanuel Kant constituía para os habitantes de Koeninberg o melhor meio de verificar os seus relógios; e o camarada de Nicolas, Akaki Dvoíetotchié, agrimensor de profissão mas filósofo por vocação, também ele, todas as vezes que falava de qualquer coisa de subtil e de elevado, puxava pensativamente a orelha esquerda, e, durante as pausas, mostrava com ar profundo a ponta da língua, como que a zombar do seu auditório assim como dos problemas que evocava.
Nicolas tinha também arranjado aquela singularidade: passeios no cemitério todos os domingos, do meio-dia às três horas.
As coisas tinham acontecido assim: um dia, sem saber como matar o tempo, tinha ido dar uma volta pela cidade e, sem se aperceber disso, de tal modo estava absorto nas suas meditações, encontrou-se no campo dos mortos.
Era na Primavera. Os arbustos e as árvores que
211
ornamentavam com uma vegetação densa o velho cemitério, todo plantado de túmulos apertados uns contra os outros, acabavam de readquirir a sua fresca e sumptuosa cobertura; os ramos macios davam uma sombra suave que cobria as pedras tumulares e os montículos de verdura sedosa; o sol tinha um brilho tão jovem e tão luminoso... e quando a brisa primaveril, leve e perfumada passava sobre os túmulos, a erva e a folhagem suspiravam melancolicamente; dir-se-ia que se compadeciam daqueles que dormiam sob a terra e nunca mais veriam a Primavera nem ouviriam as suas músicas. Os pesados monumentos mergulhados na verdura, lançavam olhares tão aborrecidos e tão concentrados que se diriam descontentes com o facto de a alegre Primavera nem sequer deixar o cemitério em paz e lhe retirar aquela profunda majestade e severa beleza que tão bem se harmonizam, no Outono, com os ramos despidos das árvores, as folhas amarelecidas caídas no solo e o céu cinzento cheio de tristeza. Agora estavam despojados da sua pureza e o brilho daquele céu primaveril, a verdura alegre, a nuvem de borboletas que esvoaçavam por todos os lados, tudo o que essa época trazia consigo, afastava-os para segundo plano, relegava-os para a sombra, roubava-os de alguma maneira...
Nicolas deambulava pelo cemitério e meditava sobre a indiferença da natureza, sobre o lamentável destino dos homens, sobre o repouso eterno da morte e sobretudo aquilo que o espírito evoca perante um conjunto de túmulos inundados pelas vivas cintilações do sol primaveril. Aquele lugar de aflição agradou-lhe: ora agia com força no ritmo dos seus pensamentos, ora condimentava com melancolia e profundidade os sonhos em que se lançava. Nicolas deixou-se também seduzir pelo próprio carácter que os seus pensamentos tomavam; e finalmente agradou a si mesmo, contente por ver que era capaz de meditar sobre a existência e de meditar, além disso, em tão perfeito acordo com as circunstâncias. Não gostava de ler, mas o pessimismo, aquele que se encontra na vida quotidiana, quase sempre forçado e exibicionista, raramente inteligente e sincero, nunca filosófico, era-lhe familiar
212
e agradável pelo seu carácter de contestação. O falecido Akaki Dvoletotchié tinha o hábito de lhe dizer que o pessimismo era a única teoria inteligente do mundo e que todo aquele que não fosse pessimista era um covarde e um imbecil: - Compreende pelo menos isto, caro amigo: toda a vida vai para o abismo! compreendes? Toda a vida! Eis o que é o pessimismo! O maior salto de espírito humano, velho amigo, porque não se pode ir mais longe do que à negação da vida. E se alguma vez essa gente te disser que todos devem viver por viver, cospe-lhes na cara! Meu velho, nada de bom pode sair desta vida, sou eu, Akaki Dvoíetotchié que te dou a minha garantia. Bebamos então mais um copo!
- Bebiam, e o pobre Akaki bebeu tanto e tão bem que acabou por apanhar finalmente um excelente deliriam tremens que terminou com a sua carreira e deu ao seu amigo um pretexto suplementar para frequentar o cemitério.
Depois aquele hábito enraizou-se de tal modo que um domingo em que não pudesse dar por lá o seu passeio parecia-lhe um domingo perdido. Sentia um prazer doentio em ficar num canto sombrio, sentado numa campa, a pensar naquele que ali dormia e a reconstituir dia a dia a sua vida. Aquela meditação fornecia tristes histórias; quanto mais lógica era a construção das mesmas mais satisfeito consigo próprio ficava Nicolas, e mais se afastava de uma vida sã mergulhando no mundo doentio de uma imaginação melancólica, num mundo de uma beleza sombria que o impedia de ver simplesmente a vida que passava diante de si toda a semana, de um domingo a outro. A sua profissão, os seus colegas, as mulheres, tudo perdia pouco a pouco o seu valor aos olhos de Nicolas, tudo lhe parecia mesquinho e ridículo...
Notando que ele fugia da sociedade começaram a zombar dele: começaram a dizer que ele pretendia seguir os passos daquele bêbedo do Dvoíetotchié, um homem ferido pela existência, sem vontade, digno de dó; riam-se e caluniavam; mas, como sempre acontece, ninguém se lembrou de lançar um olhar sério sobre o seu mundo interior; ele irritou-se e em breve ficou absolutamente só; desse modo o seu gosto pelas excursões no domínio das
213
hipóteses e dos quadros pessimistas ficou reforçado. E, cada vez mais apaixonado por si próprio e orgulhoso da sua situação excepcional, acabou por perder todo o interesse por tudo o que saía do quadro da sua imaginação melancólica. Nesta vida, no meio de pessoas que não estão ligadas por objectivos comuns, pelo respeito mútuo ou a confiança recíproca, qualquer homem pode muito facilmente e muito depressa afundar-se ou perder a razão, se não é suficientemente firme ou se não há ninguém que dê importância à sua existência.
O dia em que Nicolas foi testemunha ocular de um facto excepcional que bem podia tirá-lo do domínio do pessimismo e que, depois, ele relatava dissimulando a sua perturbação sob um tom e um sorriso cépticos, foi um dia de Agosto, quente e seco.
Tinha tirado o chapéu e servia-se dele como se fosse um leque, caminhando ao longo das pequenas áleas sinuosas do cemitério; relendo pela centésima vez as inscrições das cruzes e dos monumentos, sorria-lhes tristemente como a velhos conhecimentos. Aqueles que, outrora homens, jaziam agora em paz e em silêncio sob aquelas cruzes e aqueles monumentos, tinham sido contemplados por Nicolas com biografias da sua invenção e ele errava sem nada lhes tirar das suas cores sombrias e da sua tristeza, pelo contrário, reforçando-as. Crescia nele uma verdadeira paixão de inventar infelicidades e desgraças com que semeava a vida já decerto, sem isso, pouco risonha dos seus personagens defuntos.
Reinava o silêncio no cemitério vazio. As árvores e os arbustos estavam petrificados na atmosfera canicular; erguiam-se sem mexer uma folha e pareciam meditar, à imitação de Nicolas, sobre a morte, as desgraças, o desgosto e todas as outras coisas desagradáveis. A erva que cobria os túmulos poeirentos inclinava tristemente, também, as suas folhas...
Nicolas passava junto de uma rica campa cercada por uma grade trabalhada, no interior da qual se tinham plantado canteiros de flores. As flores puseram-lhe um sorriso nos lábios.
214
"Flores num túmulo! - pensou ele. - Quem as plantou fê-lo sem dúvida numa intenção louvável: a presença delas nem por isso se torna oportuna. Elas parecem dizer àquele que jaz sob a terra e lhes dá a seiva da vida: "Vês, estás morto, mas isso não nos impede de florir!". E a tua morte não altera nada. Talvez tivesses qualquer ideia de ti próprio, pensasses que contavas para qualquer coisa? Em vão. Existias, existia a vida; já não existes, a vida continua a existir. E a tua presença ou a tua ausência da vida não lhe conferem qualquer carácter especial. Supunhas talvez que eras necessário a alguém, que alguém se afligiria com a tua morte? Passo muitas vezes aqui e nunca vi pisada a relva que te cerca a grade do monumento. É evidente, ninguém te visita meu velho. Talvez tivesses, em vida, caminhado apaixonadamente para um objectivo e a tua vida tivesse sido torturada e agitada. Bem, terias feito melhor em te recordar sempre que os nossos esforços para escalar o céu só servem para precipitar o dia em que partimos para a terra, aí, onde está tão húmido e frio, e onde se demonstra que é tolice correr desde que viemos ao mundo, porque de qualquer maneira não poderíamos evitar o inevitável."
Nicolas suspirou e olhou à sua volta. O cemitério, nesse dia de muito calor, harmonizava-se perfeitamente com a sua concepção do mundo. Silencioso, deserto, dominado pelo ar abafado, olhava o céu canicular em todos os seus pormenores com tal concentração sombria e fixidez que parecia dizer-lhe: - Tudo o que criaste e animaste pertence-me. E queres realmente continuar a criar? Agradeço-te o esforço mas, verdadeiramente, não sei se ele nos é útil, a ti e a mim.
"Que brincadeira atroz esta da criação e da destruição!" pensava Nicolas; mas também a aceitava porque era uma fatalidade. Acomodamo-nos tão facilmente com tudo, que há muito nos teríamos acostumado ao pensamento do absurdo da nossa existência se um tal pensamento não colidisse com a nossa vaidade."
- Ah! Ela aqui está, a campa da celebridade! E então, velho idealista? Como te sentes aí em baixo? - disse Nicolas, parando diante de um túmulo recentemente
215
coberto de coroas. - Repousa da tua vida laboriosa de que essas coroas vulgares são o único salário! Os teus funerais, pela pompa e sumptuosidade com que foram organizados, constituíram uma bela distracção para a sociedade; e a tua morte forneceu um tema completo para as conversas e para os jornais... durante três dias. E foi tudo. É muito escasso para quarenta anos de trabalho, muito escasso!... E até agora ninguém pensou em pôr um pouco de ordem na tua última moradia nesta terra.
Nicolas, depois de ter saudado a campa com um aceno de cabeça, retomou o seu passeio. Lembrava-se do homem que ali jazia. Era um velho doente, seco, com a palavra de uma vivacidade febril, e cujos olhos tinham um brilho enérgico que não era de um velho; sempre atarefado, sempre a defender qualquer coisa, a praguejar contra alguém, ele era, para Nicolas, absolutamente incompreensível. "Que engrenagens o movem?" perguntava a si mesmo quando o via zangar-se, regozijar-se, afligir-se, ou seja encurtar de todos os modos a sua existência. E parecia-lhe que aquele velho, apesar de toda a beleza e unidade do seu mundo interior, era limitado. Seria possível que não compreendesse que todos os seus esforços eram bolas de sabão inconsistentes? Acreditava-se realmente capaz de transformar a vida? Refazer a vida queria dizer, no mínimo, criar um homem novo... Sorria para si próprio, com um sorriso céptico, quando ouvia falar dos sucessos ou dos insucessos do velho original.
Havia mês e meio que esse original tinha partido para o reino das sombras. Discursaram exaltando-lhe os méritos junto do túmulo... e nada mais. E de tudo o que dele se dissera, o mais belo discurso e o mais sincero foi o de um jovem que tinha bebido demais. - Adeus, amigo! disse ele. - Adeus, velho lutador. Ao partir deixas mais inimigos triunfantes que amigos em pranto. E isso é que está certo! Isso é que é verdadeiramente digno de elogio!
Nicolas recordou essa característica do defunto e teve um sorriso triste. Era tudo aquilo exacto, de uma ponta a outra. Tinha deixado mais inimigos que amigos... Só um bom e leal lutador+arranja muitos inimigos.
216
O caminho que Nicolas seguia contornava um grande túmulo de mármore atrás do qual surgiram dois mujiques, precisamente sob o seu nariz. Afastaram-se, perturbados, apertando-se contra a grade do túmulo; e, encarando em silêncio aquele Senhor que ali encontravam, deram-lhe passagem.
- Se lhe perguntássemos? - ouviu Nicolas, em voz baixa.
- Para quê? Já te disse que sei onde é. Vi o enterro. De quem podiam eles estar a falar?, perguntou Nicolas
a si próprio, prosseguindo o seu caminho. Mas ao fim de um minuto sentiu vontade de saber o que eles procuravam e seguiu atrás deles sem fazer barulho. Adiante, a cerca de dez passos, deslizavam silenciosamente, através dos maciços de arbustos entre as campas, dois vultos cinzentos, andrajosos, que a cada passo se detinham e olhavam à sua volta.
- Está ali! - chegou até aos ouvidos de Nicolas esta exclamação alegre.
"Devem ser marceneiros" pensou. Mas lembrou-se que era domingo. Decerto tinham vindo simplesmente tirar as medidas para alguma obra. Mas essa ideia não lhe destruiu o interesse que sentia pelos dois homens. Acelerou o passo e, ao aproximar-se, viu que os dois homens estavam ajoelhados sobre pedaços de terra ressequida, junto do túmulo do velho original; puseram-se a fazer grandes sinais da cruz, curvando constantemente a cabeça para o chão.
- Caramba! Esta agora! - exclamou Nicolas. Sentiu algo de penetrante e suave atingir-lhe o coração, aproximou-se mais e parou a dois passos, escondido pelos arbustos, atrás dos dois homens que oravam.
- Meu Deus! - suspirava um deles, o mais velho, que vestia um casaco de peles, andrajoso e desabotoado; os cabelos eram grisalhos, estava sujo e descalço, suspirava e, erguendo os olhos para o céu, contemplava-o longamente.
O outro, um jovem de rosto seco e contraído, rezava em silêncio e, de cada vez que se curvava para o solo, os cabelos ruivos cortados "à tigela" caíam-lhe bruscamente
217
para a testa. Afastava-os com a mão esquerda sem cessar de se benzer com a direita.
Cobrindo-os com a sua sombra, um acer estendia a sua folhagem complexa por cima das cabeças, imóvel no calor daquele dia de verão. Em redor tudo estava silencioso e havia uma espécie de severidade estranha, um vazio bizarro. Nicolas teve vontade de lhes ver o rosto e preparava-se para contornar o túmulo e se colocar de frente quando ouviu o mais velho suspirar e pronunciar em voz alta: - Dá paz à sua alma, meu Deus, tu e todos os santos. - Acabou a oração e sentou-se no chão, o corpo apoiado de um lado contra o túmulo e o perfil voltado para Nicolas. O mais novo também se sentou ao lado do companheiro depois de ter pousado o seu embrulho sobre o túmulo junto de um ramo de flores murchas. Na face esquerda do mais velho que se voltava para Nicolas corria lentamente uma lágrima trémula; ela não reflectia os raios de sol que batiam em cheio naquele velho rosto enrugado. O do mais novo era concentrado e seco, a fronte cortada por uma ruga profunda; pensativo, tirou do bolso do casaco de cotim cinzento uma bolsa de tabaco, muito ensebada, e começou a enrolar um cigarro. O velho, com os braços a enlaçarem os joelhos, mantinha-se sentado em silêncio e balançava-se para a frente e para trás.
- É então neste sítio que... - começou ele, com um suspiro.
- Como se chamava ele? - perguntou o mais novo sem levantar a cabeça.
- O nome? - O mais velho levantou a cabeça e começou a pentear com os dedos a barba emaranhada.
- Esqueci-me do nome. Era complicado. Que importa agora o nome? Era um benfeitor, esse homem, isso sim! Uma vez passou uma destas descalçadelas a um agente de seguros, por causa de um reembolso! Meu velho! Aquilo é que foi! "Então é assim?, dizia ele. O senhor não presta para nada, se é assim que procede. O camponês, disse ele, não tem nada que esperar pelo que se lhe deve..." Ah! Meu Deus! Era um homem de bom coração, aberto para os camponeses.
218
O velho calou-se, enternecido, e passou pela testa a palma rugosa.
- Também o vi, uma vez - começou o mais novo acendendo o cigarro.
- Viste-lo? - animou-se o velho.
- Até o levei de carro à estação. Tinha os cabelos brancos, o ar severo. Como vão as coisas por aqui? disse ele. E eu disse: Bem, a verdade é que não sei como responder, senhor. Nós mesmo não percebemos como vão as coisas, disse eu. Quer dizer, se este ano não morrermos todos de fome é porque houve um grande milagre. O pão, disse eu, é tão bom que nem os ratos nem as baratas o querem, isso é que é verdade. E ele, nada de se descoser, todo esse tempo calado, calado, e de repente disse-me: Bem, meu rapaz, não te azedes tanto, deixa os gemidos para as mulheres. Embora seja assim como dizes, disse ele, a verdade é que vocês também têm algumas culpas, nem! Abre os olhos e apura os ouvidos! Instrui-te, foi para isso que te fizeram capaz de raciocinar. E começou a falar. Era assim, tudo o que dizia era simples, fácil de compreender. Que tipo, disse eu a falar com os meus botões. Parei os cavalos e ouvi-o perguntar: Que bicho te mordeu? E eu disse: Bem, as rodas chiam e não consigo ouvi-lo. Ele pôs-se a rir e disse: Caramba, que mocidade. Depois deu-me uma palmada nas costas e disse-me: Quando vieres à cidade vai ter comigo. Eu te contarei algumas novidades, se tiveres vontade de as ouvir.
- E então, foste lá? - perguntou o velho.
- Não. Uma vez aproximei-me de casa dele e que vejo? Uma carruagem diante da soleira; fiquei uma porção de tempo a olhar e tive receio. Bah! Que sou eu para ele? Depois chegou outro senhor, também de carruagem, um tipo importante, provavelmente. E mais, e mais. Então fui-me embora.
Tinha acabado de falar. Terminou o cigarro, atirou a ponta para o chão e pousou um olhar triste na pedra tumular.
- Sim, era um homem que se preocupava com os camponeses. Agora, meu rapaz, temos as pernas cortadas.
219
sim, para nós é uma grande perda! - disse o velho, recomeçando a balouçar.
Ambos se mantiveram em silêncio. A atitude deles revelava o seu sincero desgosto, o seu profundo desânimo; e nos rostos pensativos, alterados por uma tristeza de órfãos, passavam as sombras dos seus pensamentos. As figuras cinzentas ficaram como que mais cinzentas ainda, acanhadas, e o silêncio parecia a Nicolas incrivelmente eloquente.
Embora já não abrissem a boca, parecia, a Nicolas, que os dois órfãos continuavam a falar do seu "benfeitor", pronunciavam sempre as mesmas frases monstruosamente ligadas, no mesmo tom inexpressivo com que o faziam alguns minutos antes.
E o cemitério mantinha um silêncio concentrado e indiferente, banhado num calor tropical, deserto apesar do grande número dos seus habitantes. As cruzes, os monumentos, a verdura das árvores, tudo isso, que era o cemitério, Nicolas conhecia desde há muito tempo; mas parecia-lhe vê-lo agora sob um ângulo novo, frio e duro que lhe modificava completamente a fisionomia geral. Parecia-lhe que cada pedaço de cruz e cada canto de monumento aparecidos no meio da verdura, e a própria verdura, na sua imobilidade de morte, tudo isso, que exalava no céu quente e limpo o frio da morte e a negação irónica de tudo o que vivia, sentia, tinha sede de vida.
Nicolas soltou um profundo suspiro e enxugou a fronte com a palma. Teve vontade de falar aos "órfãos" mas nesse momento o mais velho voltou-se para o camarada e prosseguiu:
- Olha, foi como uma vez, no Conselho, que ele deitou abaixo o senhor de Téléchevsk, uma coisa que só vista... Caramba!... O outro disse: "Se não vier o trigo, ora, ora eles podem semear aveia". Era para nós que ele dizia aquilo. Então ele levantou-se e pôs-se a zurzi-lo. "O senhor, disse ele, eu e os camponeses somos todos homens. Somos todos iguais, essa é que é a verdade". E ainda não é exactamente assim, porque, disse ele, "o mujique é que nos dá de comer e nós somos seus devedores permanentes. É por isso, disse ele, que se fosse eu que mandasse, não
220
havia dúvida, vós serieis os primeiros a apertar o cinto e a apertar muito; não há mujiques, não há comida para si!" Fê-lo em pedaços, era um milagre. O outro ficou vermelho de raiva! Não há dúvida, era um homem às direitas, que Deus tenha a sua alma!...
Benzeu-se uma vez mais e olhou para a campa com olhos cheios de amor.
- E o Colas, do Eustrate, que ele mandou educar, só vendo o que o rapaz se tornou, uma cabeça! Veio o ano passado ver o pai, um estudante de verdade! Dentro de dois anos, disse ele, serei doutor - comentou o mais novo, começando a enrolar outro cigarro.
- E também a escola... - disse o mais velho, mas, interrompeu-se, com um gesto que queria dizer: "Para que serve, agora!" e calou-se.
Nicolas sentiu as pernas fatigadas e teve vontade de se sentar. Mas com o movimento que fez, a manga do casaco prendeu-se num ramo. Um estalido triste fez sobressaltar os "órfãos". Voltaram a cabeça para ele, examinaram-no com suspeita e com insistência e desviaram o olhar; o mais novo pôs-se a fumar com nervosismo, lançando grandes baforadas, cuspindo a saliva ruidosamente e olhando para um lado e para o outro com ar impassível; o mais velho mergulhou a cabeça nos joelhos e, como uma bola cinzenta de lama seca, ficou quieto.
Nicolas fechou os olhos e esforçou-se por reconstituir o olhar que um momento antes ambos pousavam sobre ele. Uma curiosidade fria e uma violenta desconfiança luziam nos olhos do mais novo, enquanto o mais velho o olhava com os seus pequenos olhos lacrimejantes com indiferença e com uma espécie de desprezo. Nicolas decidiu que era tempo de se ir embora.
- Quantas coroas lhe puseram! Então, Efime, vamos lá? - disse o velho pondo-se em pé.
- Vamos lá! - respondeu o outro, levantando-se também.
Depois, descobrindo-se, recomeçaram a rezar. O mais novo rezava em silêncio, o mais velho murmurava qualquer coisa em voz que parecia estrangulada.
221
- Vamos. Adeus! - disse o jovem. Ajoelhou-se e inclinou-se para o chão.
- Até à próxima vez - murmurou o velho.
Nicolas estava calado e acompanhava-os com o olhar. Caminhavam com passo lento e balanceado ao longo da álea sinuosa e desapareceram sem se terem voltado uma única vez.
Nicolas aproximou-se do sítio onde eles tinham estado sentados, olhou a campa e as coroas que a cobriam e sorriu.
As coroas estavam murchas, desfeitas, poeirentas, lamentáveis, havia nelas qualquer coisa de cómico. Nicolas sentia-se mal, descontente com o aspecto delas e com outra coisa ainda. Mas não tinha vontade de analisar os seus sentimentos.
- Bem, que significa isto? Ora, é apenas um facto excepcional! Um facto excepcional e nada mais.-Encolheu os ombros e dirigiu-se rapidamente para o portão do cemitério.
Mais tarde, ao contar aquilo, começava sempre assim o relato:
- Um dia fui testemunha de um facto muito belo, de um facto excepcional...
222
FUGIDO
Depois de ter vagueado todo o dia pela cidade, esfomeado e transido, o Ruivo entrou, ao cair da noite num pátio atulhado de madeiras velhas para andaimes; encontrou entre os postes e as pranchas um cantinho que lhe pareceu bastante invisível ao olhar dos guardas nocturnos e das rondas policiais, enfiou ali o corpo descarnado pelos jejuns e avariado por uma doença de quatro meses, fez uma barricada com tábuas para se proteger do vento e, esforçando-se por esquecer a fome que lhe dilacerava as entranhas, enovelou-se numa bola compacta e pôs-se a sonhar.
Durante aqueles quatro meses passados entre as paredes amarelas e enjoativas do hospital, a lutar contra o tifo e os bons costumes sob a forma do médico e dos tratamentos hospitalares, tinha-se habituado a reflectir muito e longamente, e essas meditações, que lhe deixavam na garganta um travo amargo e mau, tinham engendrado uma disposição violenta e cruel, uma espécie de tom provocante e belicoso em relação a tudo o que existia.
Esse tom e essa tendência tinham levado o Ruivo, primeiro, a uma disputa com uma enfermeira; a seguir, ontem, quando tinha saído, a uma contenda, mais grave para ele, com alguém de que ele tinha necessidade. O Cabo-Mimi, unn dos seus receptadores. O Ruivo tinha ido
223
a direito do hospital a fim de pedir um pequeno adiantamento por conta das suas operações futuras sobre os bens móveis do alheio; mas Mimi examinou o corpo magro do seu velho cliente, ressequido pelo tifo, e mostrou-se muito céptico: declarou que era duvidoso que ele pudesse restituir a quantia pedida porque na sua opinião as possibilidades do Ruivo eram escassas, a saúde tinha-o abandonado e era legítimo pensar que, com ela, ele tinha perdido a sua capacidade profissional.
O Ruivo sentiu-se ultrajado, apesar de em tempos não se ofender com coisas bem piores.
- Então é isso que pensas? Que já não sou bom para nada, hem! - perguntou ele a Mimi com os olhos brilhantes de impertinência e de raiva.
- Não... não é isso... mas... apesar de tudo... - respondeu o outro vagamente, com os olhos pregados no tecto fumado da taverna de que era proprietário.
-Não... mas então diz-me cá, na tua opinião só me resta deixar-me fixar sentado à lareira, e mais nada? insistiu o Ruivo, sentindo ferver no peito uma onda de injúrias venenosas prontas a jorrar.
Mimi abriu a caixa da "receita" e fez tilintar sem dizer nada algumas moedas de bronze. O Ruivo ficou quieto e esperou... Mas ao olhar o corpo forte e sólido de Mimi, vestido com roupas limpas e quentes, o rosto corado e saudável, comido até aos olhos por uma barba negra e anelada, e o olhar agudo, com um cintilar calmo e satisfeito sob as sobrancelhas negras agora franzidas, o Ruivo sentiu a necessidade imperiosa de dizer àquele homem saciado qualquer coisa de desagradável emordaz.
- Olhem-me para isto! - começou ele com os olhos voltados para um canto como se pensasse em voz alta.
- A uns o roubo só dá proveito, a outros só lhe faz mirrar
os ossos.
- Estás a dizer isso para quem? - perguntou Mimi, com olhos investigadores. E
- Para quem? Para alguém que eu conheço. Julgaste que era para ti? Na realidade, pareces-te bastante, o barrete servia-te.
224
Dizendo isso o Ruivo atirou um riso escarnecedor ao ipariz de Mimi. Este encarou calmamente o homem comprido e magro, de andrajos em tiras, que se mantinha diante dele, com o rosto esverdeado, seco, e estremeceu involuntariamente. O outro olhava-o fixamente: os olhos tinham um brilho tão vivo que pareciam prontos a incendiarem-se e os dentes cerrados que sublinhavam violentamente a magreza das faces e os maxilares angulosos conferiam-lhe ao rosto uma expressão implacável de ave de rapina.
- Hum! - murmurou Mimi, e levado pelo desejo de se libertar do seu visitante, estendeu-lhe um punhado de moedas de bronze, dizendo: - Pega lá. Saíste cedo demais do hospital. Ainda não estás muito forte.
- Quanto tens aí? - perguntou o Ruivo, arrancando nervosamente um pedaço da roupa.
- Aqui? Cinquenta copeques.
Então o Ruivo em lugar de estender a mão para o dinheiro rebentou numa gargalhada ruidosa e, sacudido pelo riso e pela raiva, pôs-se a gritar com voz sonora e aguda.
- Muito obrigado! Guarda isso para comprares a tua mortalha!... Judeu!... Bandido!... Miserável sovina!
A cada insulto todo o corpo lhe estremecia; e gritando a mesma palavra várias vezes seguidas para acabar por um gaguejar perfeitamente absurdo e incompreensível, inclinava-se sobre o balcão que o separava de Mimi com a intenção evidente de o agarrar pela barba.
Se nesse momento Mimi tivesse tido a ideia de perguntar ao Ruivo o que via ele de vexatório na oferta de cinquenta copeques, o Ruivo não teria sabido que responder e, perturbado, regressaria à calma. Mas não veio ao espírito de Mimi, que examinava com asco o seu cliente doente, fazer semelhante pergunta; não sentindo mais do que um desejo premente de se desembaraçar o mais rapidamente possível do Ruivo, respondeu-lhe às injúrias com o tom severo e frio do homem saciado:
- Bem, bem, meu velho!-disse ele ao Ruivo quando finalmente este deixou de gritar e, arquejante, tossindo e rangendo os dentes, se deixou cair sobre o balcão.
225
- Desaparece. Estás a perceber? Rua! Não tens nada que berrar. Podes pensar o que quiseres, mas guarda-o dentro de ti, berrar não te é permitido. E se não sais posso-te pôr fora ou chamar um polícia.
- Um polícia! - murmurou o ruivo, atordoado. O Cabo-Mini, um velho receptador bem conhecido das autoridades, que já tinha sido julgado por todos os juizes da cidade, chamar um polícia para o levar para a esquadra a ele, o Ruivo, que tinha executado com ele, Mimi, tantos belos golpes!... Um polícia, o inimigo comum, de ambos!!!
Mimi fechou tranquilamente a "receita", repetiu uma vez mais: - Desaparece! - e, cruzando os braços no peito, apoiou as costas no armário das garrafas olhando o Ruivo severamente.
Este estava estupefacto com aquela calma. Lançou à sua volta um olhar perdido.
A taverna estava vazia e olhava-o com as suas paredes fumadas e encascadas ainda mais friamente e mais calmamente do que o seu proprietário.
- Vou-me embora. Dá-me os cinquenta copeques disse ele a Mimi, com voz abafada.
- Mas, meu velho, eu não te devo nada - respondeu o outro, com um bocejo.
- O quê? - perguntou o Ruivo. Mas ao compreender a resposta e vendo Mimi avançar para ele com ar ameaçador fez um gesto de impotência e dirigiu-se para a porta, meio cambaleante.
- Não passas de um tratante, Miguel! - disse ele à guisa de adeus ao velho companheiro voltando-se no limiar da porta; batendo-a depois com toda a força, foi-se embora.
Durante alguns momentos este gesto acalmou-lhe a raiva. Errou durante muito tempo pela cidade à procura de camaradas e, não encontrando ninguém, acabou por se encolerizar e cansado, esfomeado e transido refugiou-se naquela pilha de madeira, com a intenção de ali passar a noite.
Através dos interstícios das pranchas podia ver a luz fraca dos lampiões; as nuvens pesadas e arrepiadas que eles mal iluminavam, vogavam, empurradas pelo vento
226
húmido e glacial do outono. As tábuas, batidas pelo vento, enchiam o terreiro com os seus ecos.
Esforçando-se por se embrulhar o melhor possível nos andrajos, o Ruivo voltava-se para um lado e para o outro, sentia de hora em hora a fome rasgar-lhe as entranhas cada vez mais cruelmente, apurava o ouvido à dor e cismava. Durante os quatro meses que tinha estado doente nem um dos seus camaradas tinha ido ver como ele ia, nem um único, como se tivessem desaparecido da terra!... Mas continuavam a existir. E com uma nitidez espantosa surgiam diante dele as suas figuras de lobos, em farrapos, uns atrás dos outros, com todas as particularidades do seu físico, da sua linguagem e a especialidade de cada um. Um por um, apareciam-lhe, só Deus sabia porquê, "na sua especialidade".
Eis o Curdo-Pequeno especialista da roupa branca. Magro, em cima de longas pernas trémulas doentes de reumatismo, curvado como um animal de caça, sobe cuidadosamente um tapume a caminho das cordas onde estão pendurados lençóis, camisas, blusas...
O Curdo-Pequeno desaparece numa espécie de obscuridade estranha e, em seu lugar, aparece Alex, o taciturno ladrão de cavalos. Está ao lado de um cavalo e dá-lhe palmadas na garupa murmurando com voz abafada:
- Vá, meu lindo, vá... Ho, ho, ho! Meu cavalinho! - e de repente todo o seu corpo possante se lança sobre o cavalo, bate-lhe e desaparece com ele, deixando atrás de si gritos roucos e um ruído de tamancos a bater no chão... Ao Ruivo parecia que esses ruídos retiniam algures na sua cabeça, sentia-se mal e estremecia de frio e de pavor, supondo que ia recomeçar a delirar; mexia-se longamente no seu buraco e quando, fatigado, voltava a deitar-se, surgia diante dele outra silhueta de velho camarada... Todos lhe deviam favores, de uma maneira ou de outra e, o que era mais, parecia-lhe que não lhes devia nada. Aquele velho soldado bêbedo, Savéli, com a cara deitada abaixo no decurso de uma rixa com um polícia, murmura em voz baixa: - Nunca esquecerei que foste tu, Ruivo, que me livraste de sarilhos! - Ao Ruivo até parece que sente a mão de Savéli dar-lhe uma palmada nas costas...
227
- Ah, as pessoas... - pensa ele, lembrando-se de quanto lhe tinha custado arrancar Savéli das mãos de um polícia seu conhecido que surpreendera aquele imprudente, aquele pesadão de soldado entregue a pesquisas acerca da solidez da fechadura de um estabelecimento. O que ele teve de pagar então ao agente... Ah, se tivesse agora aquele dinheiro consigo!
O vento canta as suas tristes canções de outono e ao Ruivo parece-lhe que também o vento tem o coração magoado por causa das pessoas que não sabem pagar as suas velhas dívidas...
Depois, aqueles pensamentos interromperam-se, e ei-lo novamente no hospital... As tristes paredes amarelas e as caras fatigadas, pálidas, dos enfermeiros e dos serventes misturam-se num único fundo melancólico no qual se desenha com uma brutalidade surpreendente certo episódio doloroso e amargo.
Tinha sido quando ele já convalescia. Estava estendido, com os olhos fechados e ouviu duas pessoas aproximarem-se da cama:
- Caramba! Dir-se-ia que este pobre diabo tem vontade de voltar à vida! - disse um deles.
- Exacto! A temperatura está a baixar: menos de trinta e oito e três. Estes tipos têm a vida dura! São verdadeiros lobos! - respondeu o outro com respeito.
E depois de terem mexido num papel por cima da cabeça dele, afastaram-se.
O Ruivo sentiu cada palavra cair nele como um pedaço de gelo agudo. Como falavam dele? Falavam como de um cão...
E recordou-se do seu cão. Era um bom cão, grande preto, Filu, que não deixava ninguém aproximar-se, a não ser o dono. É bom ter um cão... habitua-se depressa e não exige quase nada; não é como os homens. Onde estará ele agora, esse cão?
O vento uivava, galopando através do terreno livre e atirava-se ao montão de madeiras velhas, fazendo as tábuas entrechocarem ruidosamente.
O Ruivo tirou a cabeça para fora do abrigo, olhou para tudo à sua volta e soltou um profundo suspiro.
228
A noite era tão negra, tão terrível, tão fria... Ainda devia faltar muito tempo para chegar a manhã...
Algures, muito perto, ressoou a matraca de um guarda-nocturno. O Ruivo sobressaltou-se e enfiou-se novamente entre as pranchas.
- Que necessidade tem ele de vir para aqui? Isto é um baldio... Além da madeira, há aqui qualquer outracoisa?... E esse diabo vem cá meter o nariz! Ah, as pessoas, as pessoas!
O Ruivo tinha a impressão de que o guarda-nocturno já o tinha farejado e vinha propositadamente para o caçar... gritaria, talvez praguejasse, tiraria possivelmente até o apito.
"Isto é um lugar abandonado. Se não tenho casa, tenho absolutamente o direito de passar a noite num terreno abandonado."
A matraca ressoava com insolência e não cessava de se aproximar.
"Se ele não tiver cão, não dará comigo. Bem pode correr. Sim, mas se tiver um cão! Como esta doença me pôs medroso, caramba! Um guarda-nocturno, que é isso? Pode fazer barulho à vontade. A mim que me importa? Vá, mexe lá a tua matraca! Aí está ele, o patife!.... Ah, que necessidade tem ele de se mexer assim? E com um cão, ainda por cima!
O guarda-nocturno estava perto. Ouviam-se os passos pesados e os latidos amigáveis do cão...
O Ruivo sentiu-se invadido pela angústia e, ao mesmo tempo, por um ardente acesso de raiva. Teve mesmo vontade de sair e de se mostrar de frente ao guarda-nocturno... estes tipos são uns covardes!... Mas o corpo, quebrado pelo frio, a fome, a doença, recusou submeter-se-lhe à vontade, e de resto a respiração do cão ouvia-se já ali mesmo ao lado.
O guarda-nocturno bateu com a matraca nas pranchas, e soltou, com voz de baixo, um grito inarticulado muito sugestivo.
"Deve ser forte este maldito!", pensou o Ruivo com ansiedade, mexendo-se com precaução e esforçando-se por se enterrar mais profundamente no seu buraco; mas
229
um movimento mal feito levou-o a bater com o cotovelo numa das tábuas que mascarava a concavidade onde se metera; um forte ruído, um rosnar feroz, e o Ruivo viu precisamente à sua frente o focinho escuro de um grande cão. Via apenas uma massa redonda e desgrenhada, mas pareceu-lhe distinguir os dentes descobertos e olhos cruéis e ardentes.
- Desaparece... - gritou ele a plenos pulmões; e, esforçando-se por saltar sobre as pernas, chocou dolorosamente com os ombros e a cabeça.
O cão afastou-se de um salto, assustado com o grito. O Ruivo acocorou-se e, com a cabeça vazia, paralisado por uma nuvem de sentimentos confusos onde o medo dominava, inteiriçou-se naquela posição, como que à espera do que iria acontecer.
Durante alguns segundos manteve-se um silêncio inacreditavelmente longo que só o rosnar suspeito do cão rompia.
- Vamos lá, sai daí - disse uma voz abafada, sibilante, e logo a seguir o cão mergulhou novamente o focinho no monte de madeira.
Quando ouviu a voz do homem o Ruivo estremeceu da cabeça aos pés e voltou a si.
- Sai daí, já te disse! - ordenava uma voz impaciente e ameaçadora.
Mas agora aquele tom não o perturbava. De qualquer maneira era obrigado a sair.
- Sai daí ou apito! - ordenou o guarda-nocturno pela terceira vez.
- Apitas? - respondeu o Ruivo. - Espera aí um bocado, meu velho. Não tens esse direito. Posso-te pagar na mesma moeda! - acabou por dizer o Ruivo com tom seguro e mesmo com um certo matiz de desafio.
- Sai daí ou chamo a polícia.
- Ah! Ah! A polícia! - comentou o Ruivo arrastando a voz. - E para quê? Para ela levar à esquadra um homem doente? Chama, chama. Se não és cristão, chama! Mas tira daí o cão; não me vou enfiar nas goelas dele.
- Aqui Filu!-chamou o guarda-nocturno.
230
O cão afastou-se, rosnando; mas o Ruivo continuava a não sair.
- Então, meu malandro! Que esperas para sair daí? Ha? - dizia o outro apressando-o.
- Já saio, já saio, espera aí. Onde arranjaste esse cão, meu caro? Ha? De quem é esse cão? - perguntou o Ruivo tirando a cabeça para fora e examinando atentamente o animal sentado aos pés do homem.
- Sais ou quê? Estou a ver que tenho de te ajudar com a matraca!
- Espera aí, não guinches! - respondeu o Ruivo com desdém. - Que tens tu para gritar assim? Se calhar pensas que não te reconheci? Tenho melhor memória que tu, soldado. Reconheci imediatamente a tua voz. E mesmo sem te ver a fronha sei muito bem quem tu és.
com estas palavras, o Ruivo, aquecido pela esperança que acabava de se atear nele de encontrar auxílio junto do seu velho camarada, saiu desajeitadamente do buraco.
- Filu! - começou ele a chamar, dando estalos com os dedos e estalando também com os lábios. - Não reconheces o teu dono? Filu! Anda aqui, meu cão.
Filu levantou-se preguiçosamente e mexendo a cauda olhou para o guarda-nocturno como se lhe quisesse perguntar qualquer coisa.
- Quem é este homem? Quem és tu? - perguntou o outro num tom em que se podia perceber uma certa inquietação; deu um pontapé ao cão e pôs-se a arranjar a enorme gola em pele de carneiro da pesada pelica cinzenta que o fazia assemelhar-se a uma enorme cepa.
- Oh! Estou a ver! Tornámo-nos então ricos e orgulhosos, ha? Não há maneira de reconhecermos os velhos camaradas, agora!... Filu! Anda aqui, maldito cão!...
Mas o cão não se dirigia ao Ruivo. Tinha-se ido sentar no chão, afastado, e sem prestar qualquer atenção aos seus donos, começou a coçar-se aplicadamente.
Aquilo indignou o Ruivo. Baixou-se, pegou num torrão seco e lançou-o ao cão junto com algumas injúrias. Este afastou-se ainda mais, rosnando.
231
- Então és tu, Gregório? - perguntou o guarda-nocturno com ar sombrio tirando a cabeça da gola.
- Acabaste por me reconhecer? Os meus agradecimentos- ironizou o Ruivo. - Ah, meu velho, como a nossa memória é fraca quando temos a barriga cheia! Ha!
- Mas diziam que tinhas morrido! - declarou o outro, quase em tom de quem lamenta. - No hospital, segundo diziam, do tifo...
- Mas afinal não estou morto, ha! E tu, como entraste na farda, ha?
O Ruivo estava em pé, as mãos profundamente enfiadas nas mangas dos andrajos e, todo curvado sob a ventania, encostava-se às tábuas como se temesse que o vento o atirasse ao chão. A figura colossal do seu camarada bem embrulhado numa quente e pesada pelica causava-lhe uma estranha impressão. Algo de amargo e de maldoso lhe torcia as entranhas esfomeadas e fazia nascer nele o desejo de encher de pontapés aquela grande carcaça. Esse desejo era tão forte que durante algum tempo abafou não só a fome como até a esperança de encontrar auxílio. O Ruivo olhava silenciosamente o seu velho camarada imóvel, estupefacto com aquele encontro; e sentindo a cada instante crescer o seu desejo de alguma coisa de violento e de fulminante, não sabia o que lhe dizer.
- Mas diziam que morrias... que não escapavas... diziam... - começou o guarda-nocturno perturbado por aquele estranho mutismo e sentindo que era preciso dizer qualquer coisa. - Como apareceste aqui, agora, meu velho? Ha?
Os nervos do Ruivo, desarranjados pela doença e aguçados pela cólera, tinham-se tornado sensíveis como cordas de violino extremamente tensas. Estava ainda mais irritado pelo tom bizarro, como que culpado do camarada; e nada encontrando nele que lhe permitisse pensar que o encontro lhe tinha sido agradável, pôs-se de repente a odiá-lo. Sentiu ainda mais vontade de fazer mal a Savéli, ao cão, ao mundo inteiro.
- Bem, e então? Estás contente por me ver? - perguntou ele com um sorriso cáustico.
232
Savéli agitou-se estupidamente no lugar..
- Eu? Claro, estou contente, pois! E então, tu agora, como foi que?...
Não pôde dizer mais nada sentindo-se em posição perigosa; e de súbito, inspirado por esse perigo, pôs-se a falar precipitadamente, aproximando-se do Ruivo.
- Sabes, meu velho, vais-te meter ali outra vez e eu vou-me embora. É que não posso... a ronda não tarda aí. E de manhã venho-te buscar... Então falaremos de tudo... porque estás a ver, eu sou guarda-nocturno... e claro tenho de cumprir o meu dever, sou obrigado em caso de qualquer coisa a prender o tipo imediatamente e a levá-lo ao posto. É a profissão que é assim, meu velho, não há nada a fazer!... - Savéli soltou um profundo suspiro e calou-se.
Em resposta o Ruivo não emitiu um único som.
Decorreu um cruel, um penoso minuto, intensificado ainda mais por um brusco silêncio do vento que uivava através do terreno e que se tinha calado como se quisesse ouvir bem tudo o que se ia dizer.
As nuvens que vogavam pesadamente no céu deslocaram-se um momento. Os raios leitosos e frios do luar lançaram para o terreno um olhar curioso e depois de ter iluminado com a sua luz triste os dois personagens, de pé, silenciosos, um em frente do outro, o cão aparte e o montão de madeiras, esconderam-se melancolicamente atrás das nuvens.
- Filu! Anda aqui meu Filu! - gritou o Ruivo com voz de entonações sardónicas. Era-lhe agradável não dizer nada: tinha compreendido que o silêncio torturava Savéli.
- Filu!
O cão avançou para ele, remexendo a cauda, olhando o novo dono. Este estava impaciente e lançava à sua volta olhares receosos.
- Repara! - disse ele com ar melancólico, de um modo abafado e como que contrafeito - contrataram-me como guarda. Aconteceu e contrataram-me, por consequência. Por isso agora tem cuidado. Serviço é serviço, meu velho!... É difícil, por uma coisa de nada põem-nos fora... E ainda foi uma sorte terem-me aceitado. "Quem é esse? Um soldado, Savéli! Ah, é conhecido! Impossível."
233
Então o senhor Antipe disse-me: - "Bem, guardas-me as pilhas de madeira, três rublos por mês e ajudas o porteiro. E a comida." Aceitei, já estava farto da vida que levava. Portanto, por consequência, guardo...
- Meu Filu! Ah, patife peludo! Reconheces o dono!... Ah, ah!, patife, reconheceste-me?
O Ruivo acariciava o cão que se tinha aproximado dele; e olhando a cara vermelha e a bigodaça de Savéli confundido e esmagado com aquela atitude, deleitava-se O frio sacudia-o com arrepios, mas dir-se-ia que nem o notava, aquecido pela sua vingançazinha; nem sequer tentava abrigar-se melhor com os farrapos.
- -Bom cão!-dizia, fazendo estalidos com os lábios e acariciando Filu que se mostrava bastante indiferente àqueles mimos.
- Oh! Meu Deus! - suspirou Savéli; e deslocando o boné no crânio, recomeçou num tom mole e triste: - Se és consciencioso, disse ele, arranjarei com que te dêem um sector. Podes chegar até aos doze rublos, disse ele. Mas tens de ter cuidado. Lembra-te quem és. De modo que eu, estás a ver... Devias-te esconder no buraco até de manhã, meu velho. Logo que eu acabe o meu turno, então... mas agora é perigoso para mim. A ronda deve estar quase a passar. Por tua causa vou perder o meu lugar e todo o resto. Acaba com isso, meu velho. Esconde-te.
O Ruivo ouvia aquele murmúrio suplicante e assustado, e rejubilava.
- Meu pequeno Filu! bom cão! Tu, pelo menos, não me venderias por três rublos, hem? Oh! tu, tu!...
Savéli baixou a cabeça e começou a mexer no chão com a matraca.
O Ruivo prosseguia:
- Valente Filu! És um cão mas não há homem que se possa comparar contigo. Tens uma alma. Tens pena de mim? Bem vejo, que tens pena de mim! É que também eu sou um cão.
- Sim, é verdade, és um cão!-disse Savéli. levantando subitamente a cabeça.
-O quê?
234
- Claro que és um cão, digo eu. Pedem-te amavelmente para não pregar uma partida suja a alguém e tu só fazes o que te dá na gana. Ouves, miserável? Escondes-te ou não?
O Ruivo não esperava uma tal explosão, não estava preparado para ela e ficou espantado.
- E se eu não quiser? - foi o que se lembrou de perguntar.
- Então, meto-te lá à força ou levo-te ao posto. Percebes? Que é que imaginas? A mim, meu velho, é-me indiferente. A última vez levei o Mimi-Estrábico. E ficaram muito satisfeitos comigo. Que posso eu fazer quando não há outra maneira de vos meter na ordem?
Savéli tinha-se animado. Sentia que a força estava do seu lado e mais alguma coisa o sustentava.
- Palerma, já te disse que te escondas. Vem aí a ronda. Ouve-los? Esconde-te, por amor de Deus. Vão-te prender! Se não eu próprio apito, agora mesmo. Vá!
Mas o Ruivo não se escondeu. Sentiu qualquer coisa de ardente e sufocante jorrar-lhe do peito para a garganta, soltou um grito inarticulado, rangeu os dentes e de repente pôs-se a gritar histèricamente:
- Não quero! Não me escondo! Filu! Aqui! Sou o teu dono! Vamos roubar, Filu! Olha, soldado, estou a roubar. Vou-te limpar uma tábua, soldado! Que esperas para me apanhar? Ha? Anda, apita! Apita, canalha! És um patife! Filu, morde-o! Morde esse Judas!
O Ruivo ficou frenético. Começou a soltar gritos selvagens e agarrou o cão pelo pescoço, esforçando-se por o lançar contra Savéli.
O cão pôs-se a uivar e a tentar voltar-se-lhe nas mãos; subitamente mordeu-o numa perna. Soltando um grito selvagem, o Ruivo, como que quebrado, caiu no chão, uivando como um lobo apanhado na armadilha.
Filu, irritado, saltava à volta dele, esforçando-se por o morder na garganta; e o soldado mantinha-se de pé, desvairado, agitando absurdamente no ar a matraca e lançando apitos agudos, com os olhos no céu.
Ouviram-se passos de cavalos e duas silhuetas cinzentas de cavaleiros penetraram no pátio.
235
- Que aconteceu? - perguntou um deles precipitadamente, saltando abaixo do cavalo e dirigindo-se a Savéli que ainda não tivera tempo de parar de apitar.
Savéli lançou um olhar estúpido para o Ruivo que tinha rolado para o lado. Sobre ele já se inclinava o outro polícia, ajudando-o a erguer-se.
O primeiro polícia repetiu a pergunta sacudindo Savéli pelos rebuços:
- Que diabo de barulho é este? Então?
- Veio um homem... - balbuciou Savéli. - Veio e roubou uma tábua... Eu, por consequência, apitei... Oh, meu Deus! - suspirou ele, desanimado.
- Veio um homem! - zombaram eles. E, dando um soco na cara do Ruivo que eles tinham agarrado e que soluçava suavemente, acrescentaram: - É um homem, isto? Vá, meu animal, leva-o.
Savéli fez um gesto vago com a mão e ficou imóvel.
- Leva-o, já te disseram! - gritaram eles.
Então aproximou-se do Ruivo e, agarrando-o pelo braço, disse-lhe com voz abafada:
- Anda!
- Tem cuidado que ele não fuja! - disseram-lhe os polícias como despedida. Depois montaram a cavalo e desapareceram nas trevas nocturnas.
O Ruivo caminhava sem dizer uma palavra, soluçando e baixava-se a cada momento para apalpar a perna.
Seguiam por uma rua deserta, entre tapumes por cima dos quais árvores terríveis estendiam os ramos despidos para a rua. Esta era estreita e os ramos formavam sobre ela um dossel apertado. Tinha-se a impressão de que muitas mãos, longas e finas, se estendiam umas para as outras esforçando-se por se atingirem, mas que o vento, balouçando-as, impedia-as, o que fazia as árvores ranger suave e tristemente. Através do entrelaçado dos ramos via-se o movimento fatal das nuvens no céu e esse movimento lento e pesado era tão triste e inútil...
Ao longe distinguiam-se os contornos de algumas construções e as luzes fracas dos lampeões, piscando aqui e além, tornavam a noite ainda mais triste e mais sombria.
236
- Toma, maldito! - exclamou alegremente o Ruivo agitando o braço no ar... E o grito foi imediatamente seguido de um gemido de Filu.
Savéli parou.
- Que fizeste ao cão? - perguntou ele com um tom desabrido, olhando o Ruivo de lado.
- Acertei-lhe uma pedrada! Fiz boa pontaria. Então, demónio, tu gemes? Geme, geme! Também eu gemi. E ainda gemeria agora, mas já não tenho voz.
O Ruivo começou a rir, com um riso entrecortado, metálico, e deixou-se cair para o chão, pesadamente.
- Não ando mais. Estou cansado, gelado. vou morrer aqui. Não ando mais, não há nada a fazer. Acabou.
Deitou-se no chão e calou-se, enrolado numa estranha bola desgrenhada.
Savéli também parou, apoiou-se em silêncio sobre a matraca e fixou-o, balouçando, com vontade de dizer qualquer coisa. Filu tinha-se refugiado algures, ali perto, e gemia baixinho.
Os minutos passavam em silêncio, lentos e pesados, dir-se-iam pedras que se pousavam no coração de Savéli. De pé, ao lado do Ruivo, fungava; e, curvando-se para ele, acabou por lhe tocar amavelmente no ombro.
- Anda daí, meu velho! - disse ele, como que a arrancar aquelas palavras de si mesmo.
- Onde? - perguntou o Ruivo sem levantar a cabeça.
- Ao posto! - murmurou Savéli.
- Não quero! - disse o Ruivo. - Não quero. Já lá estive... E tu, desaparece. Desaparece! - gritou ele com voz sonora, sentando-se, e apontando o longe com a mão.
- Vai-te embora! - repetiu ele com insistência, vendo que Savéli não se mexia.
- Eu não posso ir embora - explicou Savéli, com um suspiro. - É impossível. Tenho de te levar. Não te zangues comigo, meu velho. Que mal faz, apesar de tudo? Lá está quente e dão-te de comer. Repara como estás doente. Acabarás por morrer em qualquer parte, na rua. O melhor para ti é estar lá.
- Ah, Judas! Judas traidor! Vendeste o teu camarada. Devia-te atirar uma pedrada, como ao cão, mas não tenho
237
forças. Estou enregelado e sem roupa, isso é verdade. Mas acertava-te. Ah, como eu te acertaria, se tivesse forças. Mas tu... és um covarde! - E o Ruivo estendeu-se novamente no chão. "
- Ah, meu velho! - disse Savéli. - Tu não queres compreender. Que vida é a nossa? Uma vida de lobos. É ou não é? Diz-me lá. Bem vês - prosseguiu ele, com segurança, vendo que o Ruivo se calava, - sinto-me feliz por poder comer, beber como um homem e tu podias dar-me cabo de toda esta minha vida... Estás a ver, as" coisas aconteceram... - calou-se, mais uma vez, incapaz de dizer como as coisas tinham acontecido.
- Sim, e eu? - perguntou, cáustico, o Ruivo depois de o ter olhado. Teve a seguir um ataque de tosse: tossiu longamente, torcendo-se como um verme sobre a terra glacial. - Sim, e eu? - repetiu, ainda sufocado pela tosse.
Aquela pergunta ecoou bruscamente no ar gelado do outono e expirou, coberta pelo ranger melancólico das árvores.
Savéli calava-se e reflectia.
- Tu... é o teu destino que o quer! - acabou por dizer, esburacando o chão com ar de aborrecimento.
- O destino! Não, não é o destino, é o facto de tu seres um patife. Não há destinos, só há patifes. Percebeste?
- gritou ele de repente.
Novamente o silêncio. Filu, tendo parado de uivar, aproximou-se do Ruivo que jazia no meio da rua e rosnou baixinho.
- Vai-te embora! - gritou-lhe Savéli, agitando a matraca.- Ouve, Gregório, anda daí.
- Ao posto? - perguntou o Ruivo.
- Claro.
- Não há então mais nada a fazer? Ha?... ÉS um canalha! - disse o Ruivo, quase num gemido.
Savéli manteve-se calado.
- Se queres, vou-me embora. Vou-me embora para sempre, para nunca mais te encontrar a não ser no Juízo Final. Queres? - repetiu, levantando-se subitamente do chão e erguendo-se diante de Savéli.
238
- Não se pode fazer isso, meu velho! É absolutamente impossível. Tenho de te levar ao posto. Peço-te que não discutas. Que se há-de fazer? É a vida que é assim. E não se pode fugir dela para parte nenhuma - dizia Savéli com uma persuasão filosófica, dando mesmo uma palmada amigável no ombro do camarada.
- Não poderei fugir dela? Não poderei fugir para parte nenhuma? Ah! Mentes, fugirei dela. Fugirei de todos e vocês não terão nada de mim. Nada!
- Um sítio desses não existe. Gregório. Não procures, não há sítio para onde se possa fugir completamente suspirou Savéli.
- E o rio? - perguntou o Ruivo, articulando com dificuldade e batendo com os dentes.
Savéli sobressaltou-se.
- Que estás a dizer? Isso é uma parvoíce! - apressou-se ele a dizer. - Não se pode falar assim. São disparates, meu velho.
Ao dizer aquilo sentia um terror inconsciente que se reforçava à medida que examinava o rosto do Ruivo, violáceo, com os dentes descobertos a baterem de frio, anguloso, resoluto, terrível.
- Anda daí! - disse de repente o Ruivo puxando-lhe pela manga e começando a caminhar a toda a pressa.
- Até que enfim! Já te devias ter decidido há mais tempo - exclamou alegremente Savéli. Tropeçando nas abas da pelica, demasiado longas, apressou-se a segui-lo.
O Ruivo, comprido e magro, corria e ria. O enorme e pesado Savéli, batendo a calçada ruidosamente com as botas, resfolegava como uma locomotiva e seguia-o com dificuldade.
O riso do Ruivo tinha um som desagradável, como o riso de um louco: produzia em Savéli uma impressão deprimente. Mas, feliz por tudo se ter passado bem, afinal, esforçava-se por não ficar atrás do seu camarada que, com passos curtos mas apressados, seguia adiante.
- Espera aí, Gregório! Não é por aí! Tens de virar à esquerda. À esquerda!... À esquerda, palerma.
- Não paras de mentir! - começou a rir o Ruivo, novamente, acelerando o passo.
239
- Gregório, meu velho, estás a fugir? Ha? Pára aí! É impossível!... E então eu? Tem pena de mim - apelava Savéli, tristemente, perseguindo o camarada.
A rua deserta estava completamente calma. A longa fila de tapumes, as árvores atrás e as trevas. Duas figuras de homem e um cão, correndo no meio deles, não podiam despertar o interesse de ninguém.
Savéli gritava e o coração gelava-se-lhe de pavor à ideia de que o Ruivo lhe ia escapar.
E de repente lembrou-se de que iam desembocar na margem abrupta do rio e que o Ruivo se podia atirar. Aquele pensamento deu-lhe asas, assustando-o de tal modo que o fez perder a voz.
Mas o Ruivo já estava longe. A comprida figura curvada, como que quebrada pelo meio, mergulhava cada vez mais nas trevas e de súbito desapareceu.
- Gregório!
- Como vês, escapei-me!... - este último grito de Ruivo ecoou pelos ares.
Ouviu-se um riso brusco e mau e, um segundo depois, um baque ensurdecedor.
...com os braços afastados, sufocado de fadiga, Savéli mantinha-se na beira da falésia e olhava estupidamente para baixo. Estava escuro e terrivelmente calmo. A água negra e glacial corria lentamente, em silêncio, tão lentamente e em tal silêncio que dir-se-ia imóvel; e quando as nuvens abriam, via-se o vento cobrir a água de rugas muito finas... Mas as nuvens deslizavam novamente umas sobre as outras e a água voltava a ficar imóvel, negra, terrível.
Savéli olhou-a durante muito tempo. Por fim lembrou-se do que havia a fazer e gritou atirando a cabeça para trás:
- Socorro! - e logo a seguir, sem deixar morrer o eco do seu grito, arrancou à pressa o apito do pescoço e rasgou o silêncio daquela triste noite de outono com apitos desesperados...
- Um homem... lançou-se ao rio! - gaguejou ele ao ver que se destacavam já das trevas pessoas que acorriam; e agarrando o primeiro que se aproximou dele pôs-se a balbuciar desesperado:
- Foi minha a culpa?... Foi?...
240
PAULO-O-AZARENTO
Os pais do meu herói eram pessoas de uma extraordinária discrição. Esse o motivo porque, desejando manter-se desconhecidos da sociedade, tinham abandonado o filho junto de um muro, numa das ruas mais desertas da cidade; e tinham tido o bom senso de desaparecer na escuridão da noite sem sentirem no coração, segundo todas as aparências indicavam, nem orgulho pela sua obra, nem a força necessária para fazer do filho um ser que não se parecesse com os pais.
O último raciocínio que fizeram - se acaso agiram por raciocínio nessa noite ao decidirem entregar a criança aos cuidados da sociedade; mas que assim tinham decidido era o que indicava um pedaço de papel, preso com um alfinete nos farrapos com que o tinham envolvido, que declarava lacònicamente: "Estou baptizado e chamo-me Paulo" - o último raciocínio, dizia eu, pinta-nos os pais do pequeno Paulo como pessoas nada menos que tolas, porque o primeiro dever da enorme maioria de pais e mães consiste precisamente em salvaguardar por todos os meios os filhos desses hábitos, preconceitos, pensamentos e comportamento em que eles, os pais, puseram toda a sua inteligência e o seu coração. Quando o abandonaram, o pequeno Paulo comportou-se, durante algum tempo, como um verdadeiro fatalista; ficou estendido sem
241
se mexer e continuou a sugar com absoluto sangue-frio o pedaço de pão envolto num retalho de musselina que lhe tinham enfiado na boca à guisa de chupeta; e quando se fartou expeliu-o com a língua e emitiu um certo ruído que não perturbou de modo algum a placidez da noite.
Era uma noite de Agosto, escura e bastante fresca: sentia-se a aproximação do Outono. E por cima do pequeno Paulo, por cima do muro junto do qual o tinham deixado, pendiam os ramos macios de uma bétula; tinham já muitas folhas amarelecidas e mais do que uma palpitava no solo em torno da criança; e, com muita frequência, com intervalos, destacavam-se da árvore novas folhas que caíam lentamente no chão, volteando, irresolutas, no ar húmido, saturado de vapores espessos; tinha chovido durante o dia; mas ao aproximar-se a noite o sol tinha-se mostrado e tinha tido tempo de aquecer a terra.
As folhas caíam, por vezes, mesmo na carinha vermelha do bebé, quase invisível sobre a espessa renda de farrapos em que o tinham envolvido solidamente as mãos diligentes da mãe: ele fazia caretas, piscava os olhos e remexia-se tanto que por fim os trapos desentrelaçaram-se e entregaram o corpo minúsculo à acção da humidade nocturna. Então, sentindo-se livre da prisão das roupas, ergueu um pé, levou-o à boca e pôs-se a chupá-lo, sempre em silêncio, mas com evidente satisfação.
Uma pequena explicação, se me permitem! Não falo do comportamento do pequeno Paulo durante a sua estadia ao pé daquele muro, senão por dedução, uma vez que não fui eu próprio testemunha; só o viu o céu, o céu profundo e escuro do mês de Agosto, esplêndido, liberalmente semeado de estrelas de ouro, e, como sempre, friamente indiferente aos assuntos terrestres, apesar dos louvores que a terra lhe entrega pela boca dos seus poetas e das preces ardentes que lhe envia através do coração dos crentes.
Se efectivamente o tivesse visto, lá, ao pé daquele muro, eu teria evidentemente dado largas à minha indignação contra os pais do pequeno Paulo, teria ficado cheio de compaixão por ele, e, depois de ter chamado a polícia sem demora, regressaria a casa com um sentimento de
242
sincera estima por mim próprio; e tudo isso, não há que duvidar, qualquer outro o teria feito no meu lugar: estou firmemente persuadido de que sim, que o teriam feito. Mas naquele momento não estava ali ninguém; e, por esse facto, os habitantes da cidade onde decorre a minha novela perderam uma excelente ocasião de manifestar os seus melhores sentimentos-manifestação que, como é sabido, constituiria a ocupação primordial favorita dos homens se não sofresse, com tanto sucesso, a concorrência de qualquer coisa diametralmente oposta.
Mas naquele momento não havia ninguém e o pequeno Paulo acabou por ter frio. Tirou o pé da boca e pôs-se a quebrar o silêncio nocturno com alguns soluços, bem depressa transformados em choros ruidosos.
Não teve de se entregar a essa tarefa durante muito tempo, porque ao fim de meia-hora um homem aproximou-se, cuidadosamente envolto em qualquer coisa que lhe dava o ar de um enorme tronco em movimento, chegou junto dele, curvou-se, murmurou com voz forte: "Que miseráveis!" cuspiu para o lado com irritação e, levantando a criança, envolveu-a nos trapos e instalou-a nos seus braços com todas as precauções de que era capaz, fazendo ao mesmo tempo soar assobios agudos, estridentes, que abafavam completamente o choro do pequeno Paulo.
- Mais um que eles deitaram fora, Excelência! São uns brutos! Já é o terceiro, este verão. Ah, amaldiçoados sejam! Prevaricam, prevaricam... e continuam a prevaricar... Estes tipos enojam-me.
Era o guarda-nocturno, Klim Vislov, homem de uma moralidade severa, o que, de resto, não o impedia de ser um ébrio inveterado e um adepto fervoroso dos palavrões refinados e monumentais.
- Leva-me isso para o posto.
Esta ordem era dada pelo comissário Karpenko, Dom João Tenório n.º 1 do terceiro distrito, que tinha bigodes ruivos em flecha e olhos cinzentos irresistíveis graças aos quais podia reduzir a cinzas nos prazos mais curtos o coração de qualquer mulher - e essa ordem era dirigida ao guarda Aréfi Guibly, homem taciturno, curvado,
243
amador de solidão, de livros e de pássaros cantores, que votava um ódio feroz ao palavreado, aos cocheiros e às mulheres.
Pegou na criança, colocou-a nos braços e ia levá-la quando de repente parou, afastou os trapos que escondiam o pequeno rosto, olhou-o durante alguns momentos, fez cócegas com o dedo na bochecha do miúdo e, inclinando-se para ele, fez uma careta horrível e deu um estalido com a língua.
O pequeno Paulo, que tinha recomeçado a chupar em silêncio a espécie de chupeta que lhe tinham enfiado na boca, não teve curiosidade em descobrir quais os sentimentos que Aréfi Guibly desejava exactamente exprimir com as suas estranhas mímicas; e como única resposta contentou-se em levantar as sobrancelhas, pelo que não exprimiu de maneira clara e inteligível nada de muito preciso.
Então Aréfi Guibly sorriu-lhe de tal modo que os bigodes lhe saltaram ao nariz e a sua enorme e espessa barba negra abanou toda subindo-lhe até às orelhas; depois perguntou ao pequeno Paulo, com uma voz tão forte que toda a rua o podia ouvir: - És um pedacinho de gente? Ha? - ao que o outro respondeu com um aceno de cabeça afirmativo e um vago resmungo.
- Tsha-a! Uffr!... Cra-cra-cra! Grr-brr... - grunhiu Aréfi Guibly, sentando-se por um momento sobre um marco de pedra ao pé de um lampião e fixando o rosto do pequeno Paulo como se estivesse à espera de qualquer coisa.
A criança estava perplexa, o calão de Aréfi era-lhe incompreensível; abanou a cabeça várias vezes negativamente, sem deixar sair a chupeta da boca, mexendo as sobrancelhas com indiferença.
Aréfi soltou um riso espesso.
- Então não queres? Vá, meu mosquitozinho!
Mas, com isto, o "mosquito", decerto convencido de que não lhe ofereciam nada, abriu os dentes e arregalou os olhos, ou por perplexidade, ou porque começava a engasgar-se com a chupeta.
244
Aréfi apressou-se a arrancar-lha, depois pousou no rosto da criança um olhar preocupado e atento, como se quisesse convencer-se de que não lhe tinha rasgado a boca.
O pequeno Paulo tossia.
- Tchu... tchu... tchu...-fez Aréfi Guibly como uma locomotiva que solta o vapor, pondo-se a abanar a criança no ar, profundamente convicto de que essa manobra pararia a tosse. Mas a criança tossia cada vez mais.
- He lá, hé lá, meu velho! - suspirouAréfi, desolado; e lançou à sua volta um olhar desvairado.
A rua dormia. De cada lado alguns raros lampiões lançavam uma luz frágil; ao longe tinham o ar mais aproximados, quase lado a lado, mas a rua era mais escura; dir-se-ia que ela se apoiava numa muralha negra erguida quase até aos céus que a dominavam e lhe sorriam com todos os vivos raios palpitantes das estrelas.
Aréfi olhou na direcção oposta.
Lá ao fundo havia a cidade, uma massa de edifícios sombrios apertados uns contra os outros; e havia luzes de lampiões, também elas pobres mas menos espaçadas, e um ruído ténue, quase imperceptível, que nascia e depois se extinguia com uma indiferença indolente. Depois desse exame, Aréfi sentiu-se estranhamente pouco à vontade; apertou mais contra o peito de roupa grosseira o pequeno Paulo, que tinha entretanto parado de tossir e se preparava para gritar; apertou-o e soltou um profundo suspiro olhando os céus longínquos.
- Porcaria!...
Tendo resumido com tão bela eloquência tudo o que se tinha passado, deixou o marco e partiu para a cidade embalando a criança nos braços e esforçando-se por o fazer o mais regularmente e mais delicadamente possível. Caminhou, passando de uma rua para a outra, durante muito tempo; e certamente o assaltavam pensamentos estranhos e pouco habituais porque não notou como as ruas, ora estreitas, ora mais largas, cortando-se e voltando, tinham agora desembocado numa praça. E não notou a própria praça senão quando se encontrou diante de uma fonte ladeada por dois candeeiros. A fonte
245
erguia-se no meio da praça, e Aréfi já tinha passado o Comissariado.
Resmungando contra si mesmo fez o caminho inverso. A luz de um candeeiro, por cima do ombro, veio cair no rosto do pequeno Paulo apoiado contra o tecido cinzento do seu capote.
- Está a dormir! - murmurou Aréfi, e, como mantinha os olhos postos na cara da criança, sentiu na garganta um pico desagradável. Para se libertar dessa sensação, assoou-se sem ruído e pôs-se a sonhar que, caramba, mais valia, se fosse possível, as crianças saberem logo, desde os primeiros dias da sua existência, conhecer o absurdo dela. Se fosse assim o homem em potência que ele trazia nos braços não dormiria tão profundamente, decerto gritaria com todas as suas forças.
Como polícia e homem de idade madura, Aréfi Guibly conhecia a vida; e sabia que se não se assinalasse a presença, mesmo que fosse apenas a gritar, nem mesmo a polícia prestava qualquer atenção à pessoa. E se não se sabe atrair sobre si a atenção de ninguém, está-se perdido: sozinho, não se poderia resistir muito tempo na vida. Esta criança descuidada e pacífica perecerá, porque dorme.
- He lá, meu velho!-disse Aréfi com ar de censura, passando o pórtico do Comissariado.
- De onde vens tu, assim? - perguntou-lhe um colega, grisalho, aparecendo à frente dele subitamente.
- Do meu posto.
- Que trazes aí? - perguntou o outro, mergulhando o dedo nas costelas do pequeno Paulo e bocejando com delícia.
- Devagar, bruto. É um pimpolho.
- Essas pegas têm o diabo no corpo.
- Quem está de guarda?
- Gogolev.
- Está a dormir?
- Está a dormitar.
- E a tia Maía, também dormita?
- Na mesma. Por que é que não havia de dormir.
246
- Sim, isso é verdade!... - bocejou Aréfi Guibly, ficando ali plantado, a reflectir.
- Não falta muito para me renderem e... toca para a cama! - notou o colega preparando-se para se afastar.
- Espera aí, Miguel! - disse Aréfi, puxando-o pela manga com a mão livre; e de repente pôs-se a falar em tom confidencial: - Se o passássemos agora à tia Maía, que pensas?
- Ela está muito necessitada, isso é verdade! - disse o Miguel com um risinho irónico, lançando um olhar para a cabeça do pequeno Paulo que dormia sossegadamente.- Meu velho, ela já tem bastante que fazer com os dela!
- Mas por uma noite só, que diabo! - declarou Aréfi com voz persuasiva.
- A mim é-me indiferente. Mas podes ter a certeza de que ela te vai mandar dar uma volta. Está bem, dá cá, vou-lho levar.
Aréfi fez deslizar com cuidado o pequeno Paulo para os braços de Miguel e seguiu-o em bicos de pés ao longo do corredor, lançando por cima dos ombros do camarada olhares atentos ao rosto do bebé adormecido, retendo a respiração, enquanto o outro fazia um barulho infernal ao bater com as pesadas botas nas lajes do corredor. Aproximaram-se de uma porta.
- Bem, eu espero - cochichou Aréfi.
O camarada abriu a porta e desapareceu.
Aréfi, de pé diante da porta, sentia uma espécie de inquietação pesada de que não conseguia desfazer-se nem esfiapando o avesso das mangas do capote, nem alisando a barba com insistência, nem, evidentemente, rapando com a unha o estuque da parede.
Atrás da porta ouvia-se um rezingar abafado.
- Insultou-me de tudo quanto havia mas ficou com ele - disse Miguel abrindo a porta, com o ar triunfante de um vencedor estampado no rosto glabro.
- bom, está arrumado! - suspirou Aréfi Guibly, descontraído, dirigindo-se para a saída, na companhia do camarada.
247
- Adeus, meu velho, volto para o meu posto.
- Vai! - respondeu Miguel, com indiferença, metendo-se num canto onde se ouviu remexer palha; devia estar certamente a arranjar um enxergão.
Aréfi desceu lentamente do primeiro degrau para o segundo, mas no momento em que a sola atingia o terceiro teve a bizarra sensação de que os pés se lhe colavam às lajes. Ficou sentado alguns minutos e, por fim, no corredor pobremente iluminado por um candeeiro de petróleo, desenrolou-se e o seguinte diálogo:
- Miguel?
- Que queres tu, agora?
- Entrega-lo amanhã?
- Referes-te ao miúdo? Claro que o entrego amanhã.
- Na maternidade?
- Não, na forja.
Fez-se um silêncio. Miguel remexia a palha no fundo do corredor e arrastava as botas pelo chão. Aréfi olhava a cidade adormecida que tinha diante dos olhos. As trevas ligavam todas as casas numa espessa muralha cinzenta, e as linhas sombrias das ruas pareciam brechas profundas naquela mole. Ao fundo, no outro lado da cidade, encontrava-se a Maternidade. Era uma vasta construção de pedra, de um branco frio, de aspecto severo, com grandes janelas indiferentes e vazias, sem flores e sem cortinas.
- Lá em baixo, ele vai morrer! - resmungou Aréfi.
- O miúdo? É possível! Realmente é difícil que escape... com a limpeza e a ordem que lá reinam...
Mas com isso, Miguel, apanhado subitamente pelo sono, emitiu um ressonar ruidoso e deixou sem confirmação nem mais esclarecimentos a sua opinião acerca da acção funesta da limpeza e da ordem sobre as crianças de tão tenra idade.
Aréfi Guibly ficou ainda algum tempo imóvel, depois partiu para o seu posto.
Quando lá chegou a aproximação da madrugada já tinha feito empalidecer a noite e refrescado a atmosfera. A guarita dele encontrava-se quase no meio dos campos e agora parecia-lhe ainda mais solitária e mais afastada
248
de tudo do que habitualmente. Antes, esse isolamento não despertava nele qualquer pensamento especial, mas hoje não era assim. Sentou-se num banquinho diante da porta. Uns feios maciços de sabugueiros tinham brotado à volta do banco e a figura cinzenta e curvada do agente confundia-se com aquele fundo escuro.
Ele reflectia. Eram pensamentos pesados e acanhados; e foi necessário muito tempo para que o seu conjunto se lhe inscrevesse na cabeça sob a forma de pergunta: "Os homens têm o direito de trazer ao mundo crianças que depois não podem educar?"
Aréfi Guibly teve quase de rasgar o cérebro de modo a poder concluir a resolução daquele problema com um severo e pesado: "Não, não têm esse direito!". Só então sentiu um certo alívio; soltou um profundo suspiro e ameaçando o espaço com o punho assobiou entre dentes: Malditos demónios!
O sol ergueu-se; os primeiros raios bateram nas janelas do posto reflectindo-se em ouro e em fogo nos vidros; isso deu às duas aberturas a aparência de enormes olhos risonhos na cabeça verde e pontiaguda de um monstro estranho que saía da terra, rastejando, para contemplar a luz divina; de resto, podiam-se tomar os maciços de sabugueiro, que tinham trepado até ao telhado, como madeixas hirsutas e as fendas acima da porta como rugas na testa alegre e sorridente do monstro.
Ao meio-dia ele estava sentado em casa da tia Maía, uma mulher de rosto talhado à enxó, com olhos verdes, vestida com um vestido sujo de mangas arregaçadas. Cada um dos seus movimentos era um poema de energia vital e dominadora.
Aréfi Guibly tinha muitas coisas a dizer-lhe, um grande número de coisas, realmente, e, com pouco hábito de manter longas conversas, sentia-se horrivelmente acanhado. Os movimentos da tia Maía, regulares e tranquilos, esmagavam-no com a sua segurança e a sua força, mas a sua misoginia transparecia no entanto nos olhares
249
melancólicos que ele lançava ao largo rosto da mulher e nos jactos de saliva que atirava para o solo.
O pequeno Paulo estava num banco, num monte de farrapos mantido por uma cadeira de palha, absorvido por exercícios de ginástica que consistiam em agarrar o pé e esforçar-se seguidamente em o atrair à boca. O pé, vermelho, papudo, recusava-se a obedecer e a criança que, aparentemente, não lhe queria mal por isso, emitia murmúrios aprovadores.
- E então, velho descrente, que queres tu fazer agora?
- começou Maía sentando-se numa cadeira em frente de Aréfi e enxugando a cara com o avental. - A mim, isso é impossível, não ficarei com ele. Dá-o à velha Kitaiev, ela o criará por dois rublos. A criança é saudável, já tem mais de um mês. E sossegada. É a ela que a deves confiar.
- E se ela o deixa morrer?
- Morrer? Por que é que ela o iria deixar morrer, meu espantalho de pardais? - arreliava-o Maía.
- Porquê... É uma mulher, e então...
- E tu és um polícia ignorante. Eu punha-o em casa dela e pronto. Isso é o que eu faria ao bastardo número setenta e um. Tu és um pateta! Deixá-lo morrer, dizes tu, como se as crianças fossem criadas por diabos do teu género e não por mulheres, precisamente. Uma mulher! Mas é nas mulheres que está toda a força! Quem é que vos põe de pé, filhos do diabo? Hum... fraca tropa!... e este ainda tem coragem de falar.
- Está bem, já ouvi, trata de não berrar tão alto! notou Aréfi com senso, esforçando-se por não encontrar o olhar da tia Maía que nesse dia o examinava com uma atenção e uma penetração muito especiais.
- Ainda por cima! Naturalmente sou obrigada a moderar a língua pelos lindos olhos de sua excelência! Ora não querem lá ver! O grande personagem! Se a minha conversa te aborrece, só peço uma coisa, é que te aborreça sempre, até ao fim da minha vida. com vocês não pode ser de outra maneira. E ainda era preciso dar-vos uma tareia todos os dias.
- Bem, bem... Vamos falar do nosso assunto.
- 250
Aréfi sentia uma necessidade irreprimível de injuriar com toda a força de que era capaz a fogosa mulher; e lutando contra essa impaciência sentia-se cada vez mais incomodado.
- Explica-me então o que tenho a fazer para me ir embora. Não consigo estar aqui a ouvir-te mais tempo.
- Meu Deus! Como ele está delicado! Não passas de um estúpido, um estúpido, estás a compreender?
E depois de um longo discurso no qual, decerto, ela esgotou todo o seu temperamento belicoso e o seu arsenal de apelidos pouco lisonjeiros, sem parar de se mexer um momento no pequeno quartinho, preparando a comida, consertando algum trapo, alimentando ora um ora outro dos filhos que ela tinha espalhado por todos os lados, em cima do fogão, atrás do fogão, atrás da cortina de uma cama, indo à janela chamar as galinhas, regressando às crianças que a todo o momento mostravam a cabeça e se faziam ouvir de todos os lados, Maía finalmente levantou-se, pôs as mãos nas ancas diante de Aréfi e deu-lhe a explicação que ele pedia.
- Agora vai ter com o Comissário, antes de mais nada e diz-lhe: "É assim e assado! Quero ficar com o bebé!..." Depois trazes-me dois rublos que darei como adiantamento, por um mês, à velha Kitaiev e mais um rublo para fazer algumas compras, fraldas, enxoval... e o resto. E depois desaparece. Estou farta de te ver, velho camelo.
Aréfi levantou-se, soltou um suspiro profundo e saiu sem dizer nada.
Na mesma tarde a velha Kitaiev vinha a casa da tia Maía. Era zarolha do olho esquerdo, o rosto parecia, tanto pela cor como pela forma, um velho rabanete todo enrugado, o queixo ornamentava-se com uma barbicha branca, falava com voz de falsete que rangia e, em cada três palavras, incomodava todos os santos do calendário, chamando-os a propósito e a despropósito ora como testemunhas das suas afirmações ora simplesmente por chamar, sem qualquer razão aparente.
A tia Maía expôs-lhe severa e secamente as circunstâncias do caso, deu-lhe algumas instruções e, à maneira de conclusão, teve esta frase sugestiva:
251
- E toma muito cuidado! Modera-te! Não abuses porque senão vais ter um mau fim. - E ameaçou a velha Kitaiev com o dedo.
Esta encolheu-se, ficou mais pequena, curvou-se humildemente diante da tia Maía e, com um grunhido servil, declarou baixinho, quase num murmúrio e como que encantada por ser consciente da sua própria humilhação:
- Tia Maía, tia Maía! Não diga isso, conhece-me muito bem! Ainda para qualquer outra pessoa, vá, mas para si... -e com isto começou a sacudir a cabeça como se fosse impotente para exprimir tudo o que estava pronta a fazer pela tia Maía.
- É precisamente porque te conheço, santa velha. Por isso mesmo.
Isto era dito de maneira muito significativa e num tom muito pouco amável, longe disso, para a "santa velha".
O pequeno Paulo mantínha-se calado, estendido num banco. Não emitiu qualquer ruído de desaprovação, salvo quando a velha Kitaiev o tomou nos braços, cochichando de antemão um piedoso "Dai-lhe a vossa benção, Senhor!", depois voltou a calar-se, cheio de uma indiferença incompreensível para com o seu destino, e ficou silencioso até ao momento de sair para a rua. Ali, o sol bateu-lhe em cheio nos olhos; fechou as pálpebras, mas não lhe serviu de muito. Pôs-se então a voltar a cabeça em todos os sentidos; as coisas porém não melhoraram; o sol continuava a incomodá-lo nos olhos, queimava-lhe a pele delicada das faces. Pôs-se a berrar.
- Ora vejam este diabo. Lá estava calado, fingia ser sossegado e logo que eu saio põe-se a resmungar. Deixa-te estar quieto!
A velha Kitaiev passou-o de um braço para o outro e prosseguiu o seu caminho, dizendo a si mesma que era mais um de que tomava conta, que eram agora cinco. "Dão muito trabalho e o único proveito que se tira é que, se não se come o que se tem na vontade, pelo menos já não se morre de fome".
Os últimos dias e últimas noites da vida dela decorriam sob o acompanhamento incessante de cinco goelas sempre
252
a berrar como fornece sem um minuto de calma... Ó, meu Deus!
Através dos vidros embaciados, esverdeados pela velhice, com rachadelas tapadas com mastique que nelas desenha vagas nervuras, caem nos quartos da velha Kitaiev os raios oblíquos do sol; dir-se-ia que eles envelheceram, que perderam brilho sob a acção do forte cheiro de amoníaco que enche os dois pequenos cubículos, baixos, de tectos cheios de fumo, papéis sujos e rasgados, soalho que range ornado com grandes fendas.
O mobiliário do primeiro aposento, intitulado pomposamente "quarto das crianças", é de uma sobriedade espartana: três bancos compridos e largos cobertos de trapos e é tudo; reina ali uma sujidade tão repugnante que é de crer que nem as moscas, são incapazes de ali subsistir, porque depois de ter dado três voltas naquela atmosfera nauseabunda apressam-se, desencorajadas, a voar, com um zumbido de protesto, para o quarto ao lado ou então para a entrada, pela porta de vidro toda aberta e tapada com qualquer coisa cuja semelhança com um oleado verde escuro é extraordinariamente remota.
O outro quarto está separado do quarto das crianças por um tapamento em madeira onde se recorta uma porta de pequenas dimensões; precisamente em frente dessa porta está uma mesa: em cima dela repousa um samovar hipocondríaco sempre a assobiar e a resmungar, ostentando várias feridas e manquejando como um inválido, esverdeado, formando um todo maravilhosamente harmónico com a indigência geral do alojamento.
Não há ninguém nos dois quartos e nada se ouve além das moscas que zumbem a sua decepção e do samovar que resmunga. Mas a impressão de nos encontrarmos num lugar desabitado desaparece desde que se lança um olhar para um canto sombrio junto da porta; ali, em cima de um banco, num monte de trapos sujos, mexe algo de vivo. Pode-se ver uma perna torcida em arco erguer-se nos ares, e, apurando o ouvido, distinguir-se-á um murmúrio monótono quase imperceptível.
O proprietário desta perna e ainda de uma outra, igualmente disforme, seca e esverdeada, é uma criança
253
de ano e meio, o raquítico "Rábano", como o tinha alcunhado a velha Kitaiev num momento de irritação. Ela baptizava todos os seus pupilos com alcunhas mais ou menos felizes e espirituosas. Mas o de Rábano calhava bem naquele pequeno raquítico, enrugado como um velho, mirrado, estranhamente deformado pela doença, com um rosto miúdo, todo amarrotado, no qual se fixava uma expressão imutável de amarga perplexidade: dir-se-ia que ele procurava adivinhar quem e por que razão lhe tinha pregado aquela cruel partida de o pôr no mundo, doente, que procurava resolver esse enigma e que, tomando consciência da inutilidade dos seus esforços, tinha para sempre a alma atormentada.
Ficava deitado no seu canto dias inteiros, erguia ora uma ora a outra das suas pernas torcidas e examinava-as com atenção, durante muito tempo, com olhos profundos, com aquela concentração e aquela seriedade mesclada de tristeza que se lê tão frequentemente no olhar das crianças enfermas; examinava-as e murmurava qualquer coisa muito baixo através dos lábios pálidos, exangues, que deixavam ver gengivas sem dentes e uma pequena língua coberta com uma película amarela. Os braços eram como asas de cestos: não mexia os punhos debaixo dos sovacos; as pernas eram saudáveis até aos joelhos, mas a partir daí tinham-se torcido em arco para o interior, e cruzavam-se ao nível da tíbia. Às vezes o estudo daquelas pernas acabava, certamente, por o cansar; então, com a mesma expressão de amarga perplexidade que nunca o abandonara erguia os olhos para o tecto: ali tremulava a mancha de luz que um raio de sol, reflectido pela água da selha à entrada da porta, fazia dançar. Mas, pressentindo talvez que um comércio íntimo com os raios de sol lhe era inútil, e que de resto tudo o que havia na terra em breve desaparecia para ele ao mesmo tempo que a sua capacidade de ver e de pensar, o pobre "Rábano" mirrado que não tardaria a transferir o seu domicílio para debaixo da terra, desviava do tecto o olhar demasiado sério e fixava novamente as pernas que o interessavam provavelmente mais do que todo o resto.
254
Havia já vinte meses que ele vivia em casa da velha Kitaiev e ela só tinha recebido dois meses de pensão; por isso esperava impacientemente o momento em que ele "esvaziasse o lugar", como dizia eufemisticamente.
Ela tinha ido uma vez a casa da mãe dele, uma costureira enfezada, anémica e curvada, e tinha-a encontrado deitada no catre, semi-morta.
- Então, minha pequena - disse a velha Kitaiev, sentando-se no catre onde a outra se mantinha estendida, quase imóvel - quanto a fazer o garoto bem o soubeste fazer, mas quando se trata de lhe dar de comer perdes as forças? Que sistema é esse? Eu não sou obrigada a tomar às minhas costas o peso das vossas faltas. Manda o dinheiro ou vai buscar o criaturo, não penses que sou uma instituição de caridade.
A mãe abriu os olhos azuis de olhar baço onde se podia ler um enorme desgosto e um grande susto.
- Tíazinha! - murmurou ela com voz oprimida. - Eu pagarei. Pagarei tudo, até ao último copeque. Nem que me esfole viva, venderei a pele e pagarei. Venderei o corpo. Tem paciência... Tem paciência. Tu és boa. Tem pena de mim e dele, pobre pequeno; tem pena.
A velha Kitaiev ouvia os lamentos, via grandes lágrimas correr naquelas faces cavadas e descarnadas, e o peito esquelético da mãe do infeliz Rábano elevar-se a um ritmo rápido.
- Ah! Estas raparigas, estas raparigas. Raparigas perdidas. Deviam-vos dar duas boas palmadas nesses rabos, era o que vos deviam fazer - disse ela de maneira sugestiva.
- Tiazinha, ah!... Mas ele amava-me, queria casar comigo...
- Oh! Isso é uma velha cantiga. Ouvi-a pelo menos um milhar de vezes.
Mas a velha Kitaiev não se devia ter contentado certamente em ouvir aquela cantiga, e devia ela própria a ter cantado, porque fez uma careta pavorosa, curvou-se, tossiu, pensou e, depois de ter beijado a doente, foi-se embora intimando-a a curar-se. Mas a outra não a atendeu e faleceu pouco depois; o Rábano ficou a cargo da velha
255
que depressa se fartou. Concedeu-lhe o gozo perpétuo de um canto e, consolando-se com a ideia que de qualquer maneira ele não iria longe, acalmou-se, tanto quanto era possível.
Além do Rábano, havia quatro crianças. Por três delas, a pensão entrava regularmente; quanto ao quarto, esse ia mendigar e provia largamente às suas necessidades. Era um garoto de seis anos, gordo, balofo, cor de rosa, chamado Gurka-a-Bola, um ser endiabrado, o grande favorito da velha Kitaiev.
- Vais dar um ladrão de primeira ordem, Gurka -dizia-lhe ela à noite em jeito de elogio quando, ao regressar da sua tarefa, ele tirava da sacola, além dos pedaços de pão, aquecedores de samovares, punhos de portas, pesos, brinquedos, castiçais, lamparinas e outras bagatelas. Gurka olhava-a alegremente com os pequenos olhos cinzentos cheios de audácia e aprovava com absoluta segurança.
- Claro! Roubarei tudo... e cavalos também!
- E quando os polícias te apanharem? Hã?-perguntava a velha Kitaiev com voz acariciadora.
- Oh, eu fujo! - respondia Gurka sem hesitar. Então a velha Kitaiev dava-lhe uma moeda de dois
copeques para comprar rebuçados e deixava-o ir passear. Os outros três, entre os quais se incluía o pequeno Paulo, não se distinguiam entre si por nada de especial e não tinham tido ainda tempo de adquirir traços individuais bem definidos. Todos gritavam com toda a força dos pulmões se ficavam muito tempo sem comer e faziam a mesma coisa se lhes davam comida demais: também gritavam quando se esqueciam de lhes dar de beber e igualmente quando lhes punham água à força pela goela abaixo. Gritavam ainda por muitas outras razões, mas essas razões, tomadas em conjunto, ou separadamente, nunca pareciam muito importantes à velha Kitaiev; e ela gritava com maior ardor que todos eles. Quer dizer: eram crianças muito turbulentas que todos os dias reclamavam de comer, de beber, roupas secas, e outras coisas da mesma espécie, às quais no entando ainda não podiam pretender pois que verdadeiramente ainda não viviam,
256
preparavam-se simplesmente para viver. Firmemente ligada a este ponto de vista utilitário, a velha Kitaiev não os amimava muito, desejando certamente que fossem mais independentes e que soubessem procurar eles próprios tudo o que a sua tranquilidade de espírito e do corpo lhes reclamava.
Era assim que se iniciava o dia em casa da velha Kitaiev:
O primeiro dos cinco que acordava era Gurka-a-Bola que dormia no quarto da velha, separado dos quatro camaradas. Logo que acordava saltava abaixo da cama que lhe tinham confeccionado com caixas e, remexendo sob a almofada, tirava de lá uma comprida pena de galo.
Armado desse modo dirigia-se em bicos de pés para o quarto das crianças, abria a porta com precaução para a não deixar ranger e, deslizando com cuidado no soalho, que no verão, bem seco, gritava que era de fender a alma e no inverno entrechocava as ripas, ia rapidamente até junto de um dos miúdos adormecidos. Debruçava-se para ele e fazia-lhe cócegas no nariz com a pena. A criança sacudia a cabeça em todas as direcções, depois fazia uma careta cómica, esfregava o nariz com os punhos minúsculos, enquanto Gurka, que tinha grande dificuldade em não rebentar de riso, inchado como um odre, prosseguia a agradável tarefa. Por fim o bebé acordava e punha-se a gritar como um escorchado, depois o segundo e a seguir o terceiro respondiam em boa camaradagem, retomavam em coro a canção do primeiro e Gurka gritava com toda a força "Tia!", corria de um para o outro, assobiava por cima da cabeça deles como uma verdadeira serpente, fazia-lhes caretas, soprava-lhes ar frio para as narinas, quer dizer, divertia-se o melhor que podia.
Produzia-se um concerto verdadeiramente espantoso de força e de discordância. As crianças tossiam, espirravam, uivavam, soluçavam e gritavam, gritavam como se os estivessem a frigir na sertã.
Gurka, porém, nunca se aproximava do sério "Rábano", que já estava concentrado no exame das suas pernas disformes; a seriedade daquele olhar pensativo metia-lhe medo. Um dia, em que Gurka se tinha aproximado dele
257
para o incluir no círculo das suas actividades, aquele olhar deteve-se-lhe no rosto com uma tal expressão que dir-se-ia o olhar de uma criança mas sim de um daqueles polícias de que Gurka não podia gostar e que evitava respeitosamente de cada vez que os encontrava. Gurka fugiu e desde então nunca mais se aproximou do raquítico.
- Oh! Oh! Oh!... Que barulho... Que gritaria! Ide para o inferno! - e a velha Kitaiev, acordada, recordava certo epíteto proibido e pronunciava-o no plural e mais do que
uma vez.
Gurka entrava com uma expressão séria e, inchando as faces como um odre, arrastava o samovar da mesa logo à entrada começando imediatamente a fazer um barulho ensurdecedor. De qualquer modo aquele alegre folgazão gostava de fazer barulho, e quanto mais grandiosas eram as proporções desse barulho mais feliz se sentia.
A velha Kitaiev extraía delicadamente de debaixo das crianças os panos molhados.
- Vá! Diabinho! Grita!... Resmunga!... Baba-te!... Hu, hu, sapo nojento.
Em casa nunca pronunciava o nome dos santos e dos mártires, porque ela própria se considerava como mártir, e por consequência não chamava qualquer outro em seu socorro.
As crianças vociferavam. Gurka berrava e batia nas coisas, a velha invectivava, e os outros locatários e vizinhos acordavam, porque de todo aquele alarido deduziam, sem risco de errar, que já eram seis horas da manhã.
O barulho e os gritos duravam duas boas horas, o tempo que a velha levava a mudar as roupas e a dar de comer às crianças. Depois, ela bebia o chá. Gurka já há muito tempo tinha tomado o seu pequeno almoço, pegado na sacola, tinha feito com ela um boné que enfiara na cabeça e tinha saído a correr para "dar a sua volta".
Depois de beber o chá a velha pegava nas crianças e levava-as para o pátio onde as instalava em caixas cheias até cima de areia fina e bem seca. Ficavam ali a queimar ao sol umas três ou quatro horas, até ao almoço; durante esse tempo a velha Kitaiev lavava a roupa, cosia,
258
remendava, praguejava, fazia a comida para as crianças e "desdobrava-se em doze", como ela dizia.
Algumas vezes vinha vê-la uma amiga, uma ou duas, ou três. Eram mulheres de idades diversas e diversas profissões, uma das quais conduzia à prisão, a outra levava, mais cedo ou mais tarde, fatalmente ao hospital.
com as amigas vinha uma garrafa, ou duas, ou três; ao fim de um momento o ar e os ouvidos dos habitantes da rua eram rasgados por uma canção cruel que falava de um "traidor infiel" ou de outro disparate do mesmo género. Algum tempo depois ressoavam as pragas mais seleccionadas, a seguir ouvia-se gritar por "Socorro!", após o que, quem sentisse esse desejo podia ver as amigas da velha Kitaiev arrastá-la pelo chão segura pelas tranças, ou a velha Kitaiev, com o auxílio de uma das suas amigas bater na segunda e a terceira partir a cara energicamente às outras duas; de qualquer modo o resultado final era sempre o mesmo, um sono profundo, seguido de uma reconciliação fraternal.
As crianças ficariam sozinhas durante todas essas lutas e teriam tido plena liberdade de morrer de fome depois de terem previamente rebentado os pulmões à força de gritar, se no momento em que, esgotadas pelo combate, as belicosas amigas adormeciam, não se abrisse a porta baixa de uma cabana mergulhada no solo e não aparecesse à luz do dia uma mulher enorme de rosto bexigoso.
Bocejava, benzia-se na boca, olhava para o céu com olhos inexpressivos de faiança, aproximava-se de uma das crianças. Depois sentava-se pesadamente nessa mesma areia, desabotoava lentamente a blusa e enfiava nela a cabeça da criança. Ouvia-se logo um ruído de lábios glutões.
No rosto da enorme matrona nada se lia que permitisse a um observador deduzir o que a levava a agir assim. O rosto era bexigoso, muito marcado e muito estúpido, e era tudo o que havia naquele rosto em tais momentos.
Depois de ter dado de mamar ao primeiro, passava ao segundo, depois ao terceiro e finalmente ia ao quarto onde se encontrava o raquítico "Rábano". Então passava-se qualquer coisa de extremamente interessante. Tomava-o
259
nos braços e levava-o primeiro para perto da janela. A criança piscava os olhos sob a luz do sol e desviava a cabeça. A enorme matrona saía então para o pátio, sentava-se numa caixa de areia e oferecia o seio ao "Rábano". Ele apoderava-se do seio, mamava um pouco com um ruído de lábios preguiçosos enquanto ela lhe acariciava a cabeça e as faces esverdeadas. Depois, quando ele acabava de mamar, ela mergulhava-o na areia e enterrava profundamente nela o pequeno corpo mutilado de raquítico, de modo que só ficava de fora a cabeça.
O "Rábano" devia gostar daquilo, os olhos brilhavam com um brilho novo, fresco, e a sua expressão concentrada desaparecia por algum tempo. Então a enorme matrona sorria, mas aquele sorriso não embelezava o rosto bexigoso, fazia-o simplesmente parecer maior. Ocupava-se longamente da criança e quando percebia que, aquecido pelo sol e pela areia, ficava sonolento, tomava-o novamente nos braços e embalava-o em silêncio. Isso agradava-lhe, ele sorria no sono; então ela beijava-o e voltava a pô-lo no quarto. Depois saía, olhava com o mesmo eterno rosto de pau as crianças deitadas na areia, algumas vezes, se não dormiam, brincava com elas, nutria-as novamente e desaparecia pela portinha da cabana no canto do pátio. De vez em quando espreitava pela porta entreaberta, e quando via que a velha Kitaiev, embriagada, continuava a dormir e que a noite caía, voltava a sair, pegava nas crianças e ia-as deitar.
Não creiam que vos estou a descrever uma fada boa, oh, não! Porque ela tinha a cara bexigosa, seios enormes e bamboleantes e além disso era muda. Era apenas a mulher de um serralheiro ébrio. Um dia ele tinha-lhe dado um pontapé na cabeça com tão pouca sorte que ela tinha cortado metade da língua. O homem a princípio ficou desolado, depois começou a tratá-la por "muda ordinária". E é tudo.
Assim viviam, pois, os pequenos pensionários da velha Kitaiev - isto no Verão; no Inverno viviam de um modo ligeiramente diferente, dado que se mantinham em cima da areia não já no pátio mas sim em cima do fogão. A areia era para a velha Kitaiev o factor principal do
260
desenvolvimento físico das crianças naquela idade, e todo o seu sistema de educação se baseava exclusivamente na areia.
O regime de Paulo em nada se distinguia do dos seus camaradas. Quando muito, o facto de uma grande cabeça escura se debruçar, por vezes, sobre a caixa de areia em que estava sentado e olhos negros e profundos o examinarem longamente.
A princípio esta aparição metia medo à criança, mas a pouco e pouco foi-se habituando, acabando por se familiarizar de tal modo com ela que já mergulhava as mãozinhas na barba hirsuta que lhe fazia cócegas; não se assustava nada quando no meio daquela barba brilhavam em frente do seu nariz grandes dentes brancos e dali partia um surdo sussurro. Às vezes duas poderosas mãos tiravam-no da areia e agitavam-no no ar, lançando o frágil corpo bem alto. O pequeno Paulo piscava os olhos e calava-se com medo; quando deixavam de o agitar gritava a plenos pulmões e o enorme homem negro, de pé, diante dele, gritava também.
- Eh! ó velha! Não ouves?
- Ouço meu caro senhor, ouço! - dizia a velha Kitaiev, surgindo de algum canto, descontente, e dirigindo-se até junto deles.
- Cala-te, oh... oh... oh! Cala-te, meu pequeno! Hu... Hu... Hu!... Ah... ah... ah!...
- Eles gritam, em tua casa! - ouvia-se dizer uma voz de baixo, no pátio.
- Gritam, meu caro senhor, gritam! Gritam todos, tantos quantos são! - sussurrava uma voz de falsete de ressonâncias irónicas.
- É porque isto aqui é sujo.
- É sujo, meu caro senhor, é sujo. É muito sujo.
O baixo resmungava estupefacto e o falsete tossicava triunfalmente.
- Não é possível isto estar melhor, hem? - recomeçava o baixo.
- É possível, é possível! Pode-se fazer melhor, muito melhor - zumbia novamente o falsete com uma convicção irónica.
261
- Então, de que estás à espera? - troava a voz de baixo, ameaçadora.
- De nada, meu caro, verdadeiramente de nada. Sou uma mulher velha, idosa, fraca, pobre, é isso. Não há mais nada! - dizia o falsete com voz submissa.
Sobrevinha um silêncio.
- Psh!... Tch!... i... i... i... Chut, pequeno! Chut! ouvia-se assobiar e murmurar nos ares.
- Então adeus. Mas olha bem por eles.
- Eu olho meu caro senhor. Deito-lhes sempre os olhos - replicava suavemente o falsete; com isso a conversa era substituída por um ruído de passos pesados que se afastavam.
Quatro anos depois dos acontecimentos que acabamos de descrever, o Paulinho fazia a sua aparição no posto de guarda de Aréfi Guibly. Era um ser de pernas curtas e cabeça grande, desfigurado pela varíola, com olhos escuros profundamente mergulhados nas órbitas.
Avaro de palavras, sempre a examinar qualquer coisa que ninguém podia ver, Paulinho não perturbava em nada com a sua presença na guarita, a vida solitária e regrada do guarda; de resto, aqueles quatro anos tinham posto fios prateados na barba e nos cabelos do homem e isso tinha acentuado ainda mais o seu carácter melancólico e a sua tendência para as Vidas de Santos.
Os dias de Paulinho corriam, monótonos e sossegados. Despertava-o de manhã cedo o canto dos pássaros nue entravam em ruidosa conversa com os raios solares; abria os olhos e, na sua caminha atrás do aquecedor, punha-se a contemplá-los, durante muito tempo, vendo-os saltar de poleiro em poleiro nas gaiolas, mergulhar na água, debicar o alimento e cantar, cada um à sua maneira, cantar com embriaguês, com rasgo, mas sem arte nem beleza. Os prelúdios ruidosos e alegres dos canários misturavam-se com o assobio monótono dos pintassilgos a que se juntava o rangido cómico dos majestosos piscos e tudo isso se fundia numa onda de sons estranhos e vibrantes que serpenteava caprichosamente no cubículo estreito e cheio de
262
fumo. Havia também um estorninho, manco e taciturno. Estava suspenso, solitário, numa gaiola de arame por cima da janela; agarrando-se com uma pata ao poleiro, balançava-se lentamente para os lados, voltando a cabeça ora para um ora para outro, fazendo subitamente sair da garganta um assobio fino e prolongado que mergulhava sempre os outros pássaros numa estupefacção muda durante um bom minuto. Interrompiam repentinamente o seu concerto tumultuoso e olhavam para todos os lados como se procurassem penetrar o segredo daquele assobio bizarro; mas o vizinho de gaiola do estorninho, um pisco imponente como um general, era presa imediatamente de uma espécie de raiva furiosa e, inchando como um balão, eriçando as penas vermelhas que lhe cobriam o peito, estendia o pescoço na direcção do estorninho e mexia-se de uma maneira estranha que não era de pássaro, murmurava, cuspia e chocava contra as grades da gaiola escancarando o bico obtuso e pondo a língua de fora. Mas o estorninho tinha já recaído na indiferença absoluta pelo que se passava à sua volta e balançava-se no poleiro, voltando a cabeça para a direita e para a esquerda filosoficamente. Negra, imóvel, a sua silhueta de monge só se animava quando uma barata subia até à sua gaiola, mas mesmo então a animação não durava mais que dois ou três segundos. Em todo o comportamento do estorninho e sobretudo no seu assobio, havia algo de céptico e de profundo que fazia cair em si os outros pássaros, como a palavra grave de um velho experiente num coro de jovens fogosos, sem conhecimento da vida e cheios de optimismo. Às vezes saltitava na gaiola, agitava as asas, abria o bico, alisava as penas, tomava uma posição majestosa e firme, mas... não assobiava e recaía num silêncio filosófico como se considerasse não ter ainda chegado o momento de fazer o que projectava ou estivesse persuadido que o seu destino não podia alterar a ordem das coisas.
Paulinho preferia o estorninho a todos os outros pássaros porque achava que ele se parecia com o papá Aréfi. Papá Aréfi também gostava do estorninho; limpava sempre
263
a gaiola dele em primeiro lugar e fornecia-o antes dos outros de grãos e de água fresca.
Paulo ficava deitado de manhã até que Aréfi regressava. O agente não gostava do posto e passava fora a maior parte do dia e da noite. Papá Aréfi entreabria a porta com cuidado, metia a cabeça e perguntava:
- Estás acordado?
- Estou - respondia o Paulinho.
Então Aréfi entrava na guarita e aquecia o samovar. Era um samovar muito velho, todo maculado com pedaços de estanho grosseiros e baços e uma das asas tinha sido substituída por uma ferradura ligada com um arame. Depois de o acender, Aréfi punha-se a limpar as gaiolas, a varrer o soalho, e quando o samovar começava a soltar os seus pios, ordenava ao Paulinho com uma voz forte, mais forte ainda do que habitualmente, certamente porque se esforçava por a suavizar.
- Levanta-te, levanta-te e faz a tua oração. Paulinho erguia-se, lavava-se, rezava, fazendo tudo
isso de um modo regular e calmo, como uma pessoa crescida, e, como se estivesse profundamente persuadido da importância e da necessidade do que fazia, desenvolvia essa actividade sem dizer nada, com o rostozinho carrancudo; e esse aspecto, com os cabelos despenteados e os olhos sérios, fazia-o assemelhar-se a uma pequena toupeira preocupada com o dia de labor que a esperava. Depois, já lavado, penteado, com a oração da manhã lida sob o ditado do papá Aréfi com voz artificialmente abafada, sentava-se à mesa diante do samovar que chiava freneticamente, e então perdia muito do seu encanto selvagem e tornava-se um pouco ridículo na sua muda gravidade.
Bebiam o chá em silêncio, e era também em silêncio que passavam uma grande parte do dia. Depois do chá, Aréfi fazia a comida, o que quer dizer que no Inverno acendia o fogão, enchia uma panela com água, punha-lhe dentro legumes e um pedaço de carne, e punha a panela ao lume, utilizando apenas as mãos apesar de ter instrumentos próprios para isso; no verão acendia uma fogueira de lenha no pàtiozinho atrás da guarita e cozia batatas
264
ou fervia alguma sopa, sem que o pudessem suspeitar de agir à maneira das mulheres, negando, com perigo da saúde, a necessidade de usar forquilhas, espátulas, ou quaisquer outros nobres atributos do trabalho feminino.
Paulinho punha-se corajosamente ao lado do papá Aréfi, vestido com umas minúsculas calças de uma fazenda de quadrados e uma camisa de algodão, vermelha; observava atentamente tudo o que ele fazia e de vez em quando arriscava uma pergunta. As respostas monossilábicas, aborrecidas, que obtinha não o encorajavam a prosseguir a conversa, contemplava mais algum tempo Aréfi atarefar-se na guarita, depois saía para a rua acompanhado pelo conselho de não se afastar.
A guarita de Aréfi estava situada à saída da cidade e as janelas davam para os campos que não se estendiam até muito longe, cortados pela fita de aço do rio, para lá do qual outros campos verdes começavam, acolhedores no Verão, frios e desagradáveis no Inverno. A seguir o horizonte era tapado pela muralha de uma floresta, imóvel, sombria e silenciosa durante o dia, mas que à noite, quando o sol baixava por detrás dela, se vestia de púrpura
e ouro.
Paulo descia até ao rio e instalava-se conforme podia nas pedras no meio dos arbustos; atirava então pedaços de madeira e galhos para a corrente e ficava a vê-los seguir sobre a água; via um raio de sol a cintilar na superfície, o vento a cobri-la de rugas alegres e muitas vezes, embalado pelo marulhar incessante das ondas contra a margem, adormecia.
Se Aréfi estava em casa vinha-o buscar e iam para a mesa. Almoçavam, depois Paulo voltava para a beira da água e ali ficava a brincar até à noite, sozinho ou com a pequena mendiga Tulka, uma rapariguinha de cerca de oito anos, estrábica, com um ar de espertalhona; suja, com gritos penetrantes, detestava Aréfi que a expulsava da guarita cada vez que ela se aventurava por ali.
Ao cair a noite, Paulo olhava o sol a esconder-se no poente e a floresta, viva e bela, morrer envolta nas sombras da noite; regressava à guarita e ia-se deitar, depois de rezar as suas orações quando Aréfi estava, ou sem
265
rezar e sem mesmo se despir quando ele se encontrava ausente.
Os dias sucediam-se uns aos outros, monótonos, tristes, silenciosos, e, como acontece normalmente com os dias, encadeavam-se para formar semanas, meses, anos... Paulinho crescia, os dias eram agora melhor preenchidos, ele interrogava-se acerca de coisas como, por exemplo, para onde ia o rio, o que havia para lá da floresta, por que razão as nuvens sendo tão grandes flutuavam tão levemente no céu ao passo que um seixo, mesmo pequeno, caía ao chão quando o lançava ao ar; o que se passava lá ao longe, na cidade, onde os telhados eram tão apertados, e para além da cidade, na terra em geral, tão ruidosa de dia e tão triste e calma à noite. Mas essas perguntas não as fazia a Aréfi por supor talvez que um homem que muito se cala não sabe grande coisa, mas também um pouco intimidado tanto pelo silêncio dele como pelo seu rosto sempre metido consigo e carrancudo.
Ao contrário, quando eram visitados por Miguel, o que acontecia raramente, Pauiinho metia-se a um canto e saboreava profundamente a palavra humana. Miguel falava muito e começava sempre por perguntar a Aréfi:
- E então, meu velho frade, ainda estás vivo? Não pensas em casar? - e com isto ria às gargalhadas perante a indiferença profunda de Aréfi.
Mas essa indiferença não vexava de modo algum Miguel; enxugava com o lenço o rosto recentemente barbeado e, instalando-se mais comodamente no banco, "dava corda à sua gaita de foles" como dizia o seu melancólico camarada nos momentos de irritação.
- Hoje, meu velho, comi um destes almoços! A Maía fez-me um cozido de aspelta, que não te digo nada!... Em leite, com uvas passas. Ha? Nada mau. Pode-se dizer que ela tem mãos de ouro para a cozinha. E não é só para a cozinha. Ela sabe fazer tudo e cose na perfeição. Era de uma mulher assim que tu precisavas, Aréfi, uma mulher como a que eu tenho. Que dizes a isso?
- Ela ladra como um cão! - replicava lacònicamente Aréfi, apressando-se em redor do samovar ou então já à mesa, a molhar os bigodes num pires cheio de chá.
266
Miguel erguia as sobrancelhas com ar surpreso.
- Ela ladra, dizes tu? E depois? É verdade que ela grita, claro. Mas entre marido e mulher isso é normal. Cada um deles quer-se sentir chefe e ceder não é força de ninguém. Eu, por exemplo, achas que cederia? Nunca, em dias de vida. Desde que as coisas correm mal, aviso-a: "Maía!". E se a coisa não lhe agrada, pumba, uma lamparina...
- E ela responde-te com duas - comentava friamente Aréfi.
- Duas? Diz-me dessas... E mesmo que fosse assim? Ela é a minha mulher! Tem o direito de me dar duas. Mas mesmo assim eu nunca cedo. E por causa disso posso-lhe dar uma destas tareias...
- E ela casca-te com o rolo da massa como da última vez... - insistia Aréfi.
- O rolo! Essa é boa! Não vais dizer que ela me bate com o rolo todos os dias, Ha? Foi uma vez e acabou. com o rolo! Tens algumas bem boas...
" Fazia-se um silêncio. Os dois camaradas bebiam o chá
e e olhavam-se de uma maneira intermitente. - E então, como vão os teus pássaros? Vivem?
-Olha para eles.
- Estou a ver, estou a ver. É divertido, os pássaros.
Também vou criar alguns.
- A tua mulher punha-os no tacho - gracejou Aréfi.
- Isso nunca. Ela também gosta de pássaros. Outro dia comprou um ganso... Foi uma compra formidável... -Miguel animou-se subitamente - Ela é esperta, sabes! ; O camponês estava bêbado; ela pôs-se a ralhar com ele.
"Estás bêbado, e eu sou mulher de um sargento, disse-lhe ela, queres que o chame para ele te meter no xelindró? Ha? É isso que queres?" O tipo estava tão bêbedo que teve medo e vendeu-lhe o ganso por trinta copeques, mas um destes gansos, meu velho! Um desses patifes, espertalhão, presumido, tal e qual como o nosso comissário. Não, meu caro, a minha mulher é uma jóia. Se pudesses encontrar uma igual seria um milagre. Ela levava-te pela
mão e nem saberias como; não terias sequer tempo de
dizer "ai".
267
- Bem, mas o que é que há de bom nisso? - perguntou Aréfi.
- O que há de bom? Numa mulher? Essa é boa, uma mulher muda todo o ambiente de uma casa. Vêm os filhos, a casa anda limpa, e tens alguém com quem gritar e com quem fazer as pazes... Aí está!
Iniciava então uma enumeração infindável das maravilhosas qualidades femininas. Miguel via sob um ângulo muito especial tanto os defeitos como as qualidades das mulheres. Estas eram o seu tema favorito, que sofria, de resto, a forte concorrência de um outro: a comida. As mulheres eram para ele o alpha e o ómega da existência, o cimento que unia todos os fenómenos da vida em um todo harmonioso, a força que conferia a todas as coisas tom, cor e conteúdo. Podia falar das mulheres durante três horas a fio num tom elevado, épico, caindo a cada passo num lirismo que muito aborrecia Aréfi. Este calava-se e curvava-se cada vez mais, como se tentasse esconder-se debaixo da mesa para fugir à verborreia do camarada e quando, por fim, se lhe esgotava a paciência, erguia-se e rugia saturado:
- Basta! Deixa-me em paz. Acabas por me irritar. Esta intimação cortava a verbe do orador, sem o
perturbar porém a ponto de o fazer calar inteiramente. Não. Examinava durante algum tempo o que o cercava e toca a "dar nova corda à gaita de foles".
- Era preciso arear o teu fogão. Diz-me cá, parece um fogão, aquilo? Bah! Que horror! Se tivesses uma mulher...
Mas Aréfi tossicava com boa disposição e fazia um gesto sugestivo com a mão ou com o pé.
- Não te zangues, meu velho! Espera e tu verás. É uma pena, apesar de tudo, que um homem como tu fique inutilizado...
- Cala-te, Miguel! - gritava Aréfi, dando um murro na mesa.
- Bem, bem, pior para ti, não se fala mais nisso. Alguns minutos de silêncio.
- Tenho de ir embora. Daqui a pouco entro de guarda. E a Maía está à minha espera. vou ter um destes jantares de lamber os dedos. Tripas recheadas com sêmola e
- 268
toucinho. Como manteiga. Desde que se trinca, desfaz-se. Formidável. Ao passo que tu, comes sei lá o quê. Pode-se chamar comida a isso? Ao passo que se tivesses uma... bom, bom, já não digo nada, calo-me... vou-me embora, vou-me embora. Adeus, passa por lá um dia para me ver. Onde está o Paulinho? Paulinho, diabo pequeno, onde estás metido? Foi-se embora, já estou a ver. Como vai ele? Passa o dia fora de casa, assim? Isso é uma educação? Ao passo que se tivesses uma mulher...
Por fim partia, acompanhado pelo rosnar descontente de Aréfi, que muito tempo depois daquela visita ainda se ; sentia oprimido e como que envolvido por uma corrente ; de ar desagradável.
O palavreado de Miguel escasseava em variedade, e
Paulinho depressa aprendeu a quase adivinhar, à primeira
palavra, o objectivo de cada frase. Não gostava do rosto
rapado, luzidio, cheio de gordura, de Miguel, cujos olhos
baços se assemelhavam a dois botões de estanho; também não gostava daquela voz de baixo cheia de fatuidade,
nem do aspecto dele, desde as pernas e braços demasiado curtos até ao crânio rapado à escovinha. Observando Miguel e o comportamento de Aréfi em relação
ao camarada, Paulinho chegou a detestar abertamente
aquele epicurista e começou a evitá-lo, o que lhe valeu
a alcunha de "lobinho". O papá Aréfi, comparado com os
colegas, era um Apoio, embora a barba negra, a estatura
poderosa e o silêncio concentrado o fizessem parecer
assustador aos olhos de Paulinho.
Da conversa dos dois amigos Paulo não podia tirar
grande proveito, mas estava sempre do lado do taciturno
Aréfi e desconfiava do falador Miguel. A atitude de Aréfi
relativamente às mulheres ia-o penetrando pouco a pouco
e esforçava-se até em explicar a Tulka, que inicialmente
se espantou e depoi se indignou; o resultado foi que
um belo dia Paulinho regressou a casa com a cara cheia
de arranhadelas e o coração cheio de um secreto respeito
pelas mulheres.
Aréfi perguntou-lhe lacònicamente e com voz de baixo
particularmente grave: - Que foi isso?
269
- Caí... foram os galhos duma árvore - respondeu Paulinho. corando.
- Ah! Bem, bem! - disse Aréfi, sem mais comentários aconselhando-o depois a ir-se lavar.
Os dias passavam e Paulo crescia. Está agora no seu nono ano; é de pequena estatura, muito bexigoso, acanhado, taciturno, e os olhos têm uma seriedade e uma frieza que não são da sua idade. Aréfi e ele entendem-se maravilhosamente, por isso o silêncio de cada um deles fala ao outro com mais ou menos eloquência. Aréfi ensinou-o a ler e a escrever. Tentou metê-lo na escola paroquial mas as coisas não acabaram bem. Paulinho não suportou mais do que dez dias a maneira como os camaradas de escola o trataram, e ao décimo-primeiro, acordado por Aréfi com as palavras "levanta-te, são horas de ir para a escola", ergueu a cabeça da almofada, olhou fixamente Aréfi, frente a frente, com olhos vermelhos de insónia, e pronunciou o seu primeiro longo discurso desde que nascera:
- Não volto para a escola, mesmo que tu me afogues; lá tratam-me pior do que a um cão raivoso. Só me chamam nomes, ruim semente, bastardo, diabo bexigoso. Não vou, faz o que tu quiseres. Estou melhor em casa. Não gosto deles, não gosto de nenhum. Terei sempre de lhes bater. No terceiro dia pus a sangrar o nariz do filho do professor e o pai pôs-me de castigo, de joelhos durante uma hora. Tornarei a rebentar-lhe o nariz, rebentarei o nariz de todos, queres apostar? E quando são eles que me batem então ninguém se importa, eu não digo nada, e ninguém é posto de joelhos. Não volto lá, faz o que quiseres!
Aréfi olhava para o rosto da criança, marcado pela varíola, ainda mais desfigurado agora pela cólera e pela indignação, e calava-se; quando Paulinho acabou de falar e mergulhou novamente a cabeça na almofada com ar teimoso e cheio de desafio, limitou-se a dizer, com laconismo mas tão alto que os vidros estremeceram: "Não vás!" Depois disso lançou em direcção à escola um olhar tão expressivo que Paulo estremeceu e mergulhou a cabeça debaixo da roupa.
270
Nunca mais se falou da escola e o estudo prosseguiu conforme foi possível. Paulinho não gostava de estudar e os livros representavam para ele uma tarefa difícil e desagradável; Aréfi, por seu turno, ao ensinar-lhe a ler e a escrever não podia, apesar de toda a sua boa vontade, animar aquelas letras e aquelas frases mortas.
Todos os dias, depois do almoço, Paulinho ia, com ar aborrecido, buscar os livros à prateleira, sentava-se à . mesa, com os cotovelos pousados nos joelhos, apoiava o queixo no côncavo das mãos e começava a balouçar para trás e para a frente, para a esquerda e para a direita, murmurando algo de muito confuso e pouco melodioso.
O único resultado daquelas manobras era o de os pássaros, nas gaiolas respectivas, começarem por se calar, lançando uns aos outros olhares preocupados, depois, ao sinal de um fogoso canário, recomeçavam os seus gorjeios e assobios diversos, como que agitados pelo desejo excitante de levar o rapazinho a abandonar a apertada rotina do trabalho escolar.
Resultado que eles atingiam muito depressa.
Paulinho abandonava os livros e começava a acompanhar, com o seu assobio, um canário que era cantor emérito; depois, durante algum tempo, arreliava o pisco com um assobio agudo; voltava-se então para os pintassilgos que enraivecia roçando uma lâmina nas costas de uma faca; quando finalmente se erguia na guarita uma zaragata inacreditável, ele subia a um banco e atacava o estorninho.
Eis como a coisa se passava: enfiava-se entre as grades um pedaço de madeira, comprido e fino, e aplicavam-se algumas pancadas no bico do estorninho a quem esse processo lançava sempre numa grande ansiedade. Saltitava como podia, numa única pata ao longo da gaiola, batendo o ar com as asas e esforçando-se por agarrar com o bico o maldito pedaço de madeira. Raramente o conseguia e, quando atingia os seus fins, sacudia-o em todas as direcções, após o que mergulhava novamente num silêncio séptico, de onde não o podia tirar já coisa nenhuma; ou então ensurdecia todos os habitantes da
271
guarita com o seu assobio, ao qual o tempo conferia um carácter cada vez mais demonstrativo.
com isso Paulino acalmava-se e voltava aos livros: mas agora nem sequer os olhava, contemplava algo a direito diante de si, através da parede, e quanto mais se aplicava a esse exercício mais longo, profundo e reflectido se tornava o seu olhar. Em que pensava? Ele próprio quase o não poderia dizer. Existem pensamentos sem rosto e sem forma; isso não o impede de serem pesados e de envenenarem o coração com o conhecimento desses aspectos da vida cuja ignorância seria uma grande felicidade, se não fosse uma covardia e não tornasse os homens estúpidos.
Paulinho ficava sentado assim, durante horas, no meio dos sons que os pássaros produziam. Depois vinha Aréfi que o interrogava sobre a lição. Paulinho instalava-se calmamente no banco e, seguindo as linhas com o dedo que apoiava com tal força que parecia querer furar o livro, arrancava dele aforismos deste género:
- Com-a-cera-cera-se...
- Espera aí! - detinha-o Aréfi. - Não deve ser isso.
- Aproximava-se, movia os lábios. - Não é isso. Vá, torna a ler.
- Com-a-serra-cera-se, com-a-agulha-cose-se.
- bom... Estás a ver que está lá escrito "com a serra"... Que se faz com a serra?
- com a serra? - pensava Paulinho erguendo a cabeça e olhando para o tecto. - com a serra serram-se as achas.
- Estás a ver? Mas tu leste "cera-se"; trocaste o "s" por um "c" e engoliste um "r".
- Mas aqui no livro não fala de achas.
Aréfi ficava um bom bocado perplexo pensando onde havia de meter aquelas achas que acabavam de se colocar no seu caminho como um obstáculo ao ensino dos conhecimentos científicos. Paulinho fazia-se mais pequeno e declarava:
- Mas eu sei isso tudo. É com a agulha que se cose, com o machado que se abatem as árvores, com a pena
272
que se escreve. Mas o que não sei é ler isso. As palavras são tão pequenas! E todas diferentes.
Aréfi reflectia em silêncio; com os olhos na folha lia aquelas frases de uma extrema ingenuidade e ora se punha a duvidar da capacidade delas em desenvolver os espíritos e em os instruir, ora se maravilhava da profunda inteligência do autor que, na sua opinião, suspeitava Paulinho de crer que se cose com as serras e se serra com as agulhas.
Era segundo esse modelo e esse espírito que decorria a hora de estudo. Aréfi mandava Paulinho repetir as lições anteriores, depois "daqui até ali", após o que, transpirando ambos com tais esforços intelectuais sentavam-se à mesa para o almoço. Depois da refeição Aréfi ia dormir a sesta e prescrevia a Paulinho estar atento e acordá-io imediatamente "em caso de acontecer qualquer coisa".
Paulinho vestia-se e saía para a rua. As suas relações com a rua estavam longe de ser amigáveis. O seu carácter taciturno e sensaborão não lhe atraía as amizades das crianças da mesma idade; e ele próprio, invejando secretamente a alegria deles e os seus jogos, não tinha coragem de se lhes ligar. De resto, várias tentativas de amizade tinham tido lugar, mas todas tinham terminado com batalhas homéricas e uma animosidade recíproca. Paulinho não sabia deixar-se arrastar pelos vivos atractivos do jogo, mantinha em relação a todas as coisas uma atitude demasiado razoável, muito pouco infantil, que arrefecia toda a gente e produzia em todos uma impressão desfavorável. Evitavam-no e ele percebia-o.
Ora um belo dia produziu-se o seguinte facto: tinham partido para procurar cogumelos na floresta, e Paulinho, que gostava da floresta pela doçura de que ela o impregnava e pelos pensamentos agradáveis e suaves que os seus ruídos melancólicos lhe comunicavam, afastou-se dos camaradas sem ninguém dar por isso. Cantarolava uma cantiga enquanto observava com delícia o cheiro forte das folhas a apodrecerem, o ruído da erva sob os seus passos e a vida febril dos escaravelhos e das formigas.
De longe chegava-lhe a voz dos camaradas.
- Onde está o bastardo? - gritou um deles.
273
- A nós que nos importa? Não te rales que ele não se perde.
- Anda sempre de um lado para o outro como uma coruja, ou como o polícia que o sustenta.
- Pode ser que o polícia seja mesmo o pai dele. E todos riram às gargalhadas.
Paulinho sentiu de repente uma sensação de frio e de escuridão que o penetrava. Saiu da floresta com precaução, com o coração ofendido; mas o sentimento de ultraje mudou-se rapidamente em cólera. Teve vontade de se vingar e sentiu-se no direito de o fazer.
Então, desembocando na orla da floresta gritou bem alto, num tom de alegre surpresa:
- Eh!, rapazes, venham ver o que eu encontrei.
E quando, guiando-se pela voz dele, dois do grupo acorreram, lançou-se sobre eles e, depois de os ter espancado, foi-se embora perseguido por palavrões e insultos. Até à entrada da cidade seguiram-no à distância, injuriando-o, zombando dele, mas sem coragem para se aventurarem até mais perto, porque ele era forte, e afrontá-lo a descoberto não era coisa isenta de perigos, como mais do que uma vez tinham podido verificar.
Paulinho regressou a casa e mergulhou em pensamentos melancólicos. Aréfi não estava em casa, a noite caía e na guarita reinava o frio e o silêncio. A calma só era perturbada por um tentilhão e um canário recentemente adquiridos que ainda não tinham tido tempo de se habituar à sua nova moradia. Atraíram a atenção de Paulinho. Olhou-os longo tempo, vendo-os saltitar na gaiola, passar a cabeça pelas grades, e de repente, saltou para cima de uma cadeira, retirou a gaiola do prego onde estava suspensa, abriu-a, pousou-a na janela. Os pássaros fugiram no mesmo instante. Paulinho nem sequer tinha reparado como as coisas tinham ocorrido; absorto em outros pensamentos voltou a sentar-se à mesa e, com a cabeça entre as mãos, entregou-se a eles.
Aréfi regressou.
- Deixei fugir os pássaros! - disse Paulinho, à maneira de boa-tarde. Disse aquilo num tom de desafio, e esse desafio brilhava-lhe também nos olhos.
274
Aréfi olhou para as paredes, depois para o rosto de Paulo, e perguntou apenas:
- Por quê?
- Porque sim! - respondeu o rapaz com a mesma expressão na voz e no olhar.
- Bem... isso é lá contigo.
- Então... que esperas para me bater? - disse Paulinho com ar provocador.
Aréfi ergueu os sobrolhos, cofiou os bigodes e fixou o rosto do filho adoptivo.
- Alguma vez te bati? - perguntou ele, tristemente, começando a acariciar os joelhos com a palma da mão.
- Pois, é isso mesmo! Toda a gente bate nos filhos. Fazias bem se me ralhasses também. A mim, não me importa.
Aréfi mexeu-se no banco, perturbado. Paulinho olhava-o com olhos de adulto. Olhos maus.
Reinou um pesado silêncio. Parecia que até os pássaros tinham silenciado e aguardavam o que se iria passar. Mas nada se passou, a não ser que Paulinho puxou as pernas para debaixo de si e apoiou as costas na parede.
O velho relógio, sujo, de mostrador amarelo maculado com excrementos de moscas, contava os segundos que caíam, gota a gota, monótonos, no abismo da eternidade, decerto terrivelmente cansados desse trabalho forçado; o pêndulo, oscilando preguiçosamente, deixava ouvir um doce gemido, triste, que agitava còmicamente as antenas de uma barata na parede. Um raio púrpura do sol poente atravessou os ramos do sabugueiro, atingiu a janela da guarita e projectou no soalho movediças manchas de cor.
- Que tenhas libertado os pássaros não tem qualquer importância. Um pássaro que se debate na sua gaiola, o melhor é largá-lo. E se ele se acostuma, então o que resta já não é um verdadeiro pássaro. Um verdadeiro pássaro aspira sempre à liberdade.
Paulinho ergueu os olhos para Aréfi.
- Por que me dizes isso? - perguntou ele.
- Porque sim... por nada... Passou-me pela cabeça e disse-o - respondeu Aréfi, perturbado, puxando pela barba; sentia-se culpado em relação a Paulinho.
275
- Nem sempre se consegue dizer o que se pensa prosseguiu ele. - Muitas vezes anda-se à volta do pensamento, roda-se, vira-se e de repente perde-se, desaparece em farrapos... e aquilo que cai em poeira deixa de existir.
- E então? - perguntou Paulinho, num esforço de atenção.
- Então nada! É preciso saber, é o que eu digo. Se lêssemos "A vida do religioso Alexis"?
- Acho bem.
Paulinho estendeu-se no banco, um pouco desapontado com Aréfi, cujas palavras lhe tinham parecido conter algo de novo; de resto, tinha desta vez pronunciado muitas palavras e isso também era uma novidade. Aréfi foi à estante escolher um livro entre vários velhos volumes; pousou-o na mesa diante de si e, durante alguns minutos, flutuou na guarita a sua grossa voz de baixo que se tornava ainda mais grossa à "medida que aumentava o interesse do relato e no final se transformou numa oitava grave e comovida. Durante aquelas sessões de leitura, Paulinho gostava de ficar estendido, com os olhos fechados, a ilustrar os relatos com diversas imagens.
Representava os Santos muito pequenos e muito magros, com olhos enormes e severos; os carrascos dos santos eram camponeses robustos, vestidos com camisas vermelhas de mangas arregaçadas e calçados com botas de chiadeira; os reis que perseguiam os cristãos eram senhores atarracados e gordos, que sentiam sempre muito calor e por isso estavam permanentemente enfurecidos. Na base daquelas representações havia sempre personagens reais: um padre do mosteiro, carniceiros que viviam ali perto e o comissário Gogolev.
Paulinho isolava os aspectos mais característicos do carácter e do físico deles e desenvolvia-os até perderem todo o aspecto humano, tornando-se monstros cujo absurdo assustava o seu próprio criador.
Às vezes os quadros que compunha mergulhavam-no no terror. Abria então os olhos e examinava a guarita com espanto. À sua frente estava a cabeça desgrenhada de Aréfi; ela desenhava na parede uma sombra imensa, fantástica, e toda a guarita estava cheia de um grave zumbido
276
de onde emergiam, por vezes, como suspiros pesados e possantes, frases ou palavras distintas. Paulinho apanhava-as e não compreendia como se podia descrever, com essas palavras tão simples, as horríveis cenas de torturas do ascetismo, nem porque mistério ele próprio podia ver aquilo a que elas se referiam. Recomeçava a cismar e perdia novamente o fio da história. Tresmalhado naqueles sonhos acabava por adormecer ali, em cima do banco, diante de Aréfi que, absorvido pelo relato, não reparava em nada do que se passava à sua volta. Quando Aréfi terminava a leitura de um livro, ficava ainda muito tempo sem levantar os olhos; dir-se-ia que encontrava ainda leitura na página branca da capa; depois, sacava um suspiro do fundo do peito, olhava à sua volta, tomava o Paulinho nos braços com todas as precauções e levava-o para a cama, pequena, atrás do fogão; depois dava-lhe a benção e ia-se sentar num banco, na rua.
Ali sentado, olhava longa e atentamente o rio, a muralha negra da floresta e o céu semeado de estrelas; apurava o ouvido ao ruído decrescente da cidade e lançava olhares inquisidores aos transeuntes, apostrofava os cocheiros com um severo "Devagar, bruto!" se algum deles ia depressa, e um "He, tu, despacha-te!" ainda mais severo se o cocheiro ia muito devagar. Não havia necessidade de qualquer das duas observações; mas Aréfi nunca deixava passar um cocheiro sem o interpelar. Todos lhe pareciam parasitas e mandriões inveterados, vivendo à custa dos cavalos - os quais eram melhores e mais inteligentes que os donos, quanto mais não fosse porque os não injuriavam.
Às vezes passava por Aréfi uma troika, com um ruído de guisos: o cocheiro gritava, as mulheres chiavam e os homens largavam um riso rouco, avinhado... Aréfi levantava-se com um salto e, seguindo-os durante muito tempo com um olhar severo, sentia arder em si a vontade de levar todo aquele alegre bando para a esquadra.
Depois do miúdo ter feito seis anos e ter começado a andar pelas ruas, Aréfftinha adoptado a mesma atitude severa e malévola em relação aos garotos do bairro; o que lhe valeu, bem depressa, a insolente hostilidade
277
deles. Não podia admitir que tratassem o seu Paulinho tão mal, de um modo tão cruel. A princípio não queria acreditar; mas quando foi testemunha ocasional de duas ou três cenas, e ouviu duas ou três estúpidas injúrias dirigidas à criança, convenceu-se de que realmente ninguém estimava o seu filho adoptivo, a não ser ele; mergulhou numa profunda meditação e, sem sequer o notar, declarou aos garotos uma guerra impiedosa, muitas vezes ridículo à força de procurar arreliá-los; finalmente, persuadiu-se que não estava a lidar com crianças como parecia à primeira vista, mas sim com homenzinhos a quem eram plenamente acessíveis e compreensíveis todos os maus sentimentos, todas as más inclinações dos adultos.
Esta convicção levava Aréfi a frequentes choques violentos com os seus vizinhos, o que lhe valeu ter de ouvir, mais do que uma vez, observações pouco agradáveis relativas ao rapazinho. Depois dessas cenas ele tornava-se mais sombrio e todo o rosto, sulcado por rugas profundas, se lhe afogava na barba, nos bigodes e nas sobrancelhas, sob as quais brilhavam os olhos severos, que o tempo tornava cada vez mais inquietos, e nervosos.
Quando relia as suas queridas Vidas de Santos, a voz tornava-se dia a dia mais abafada, por momentos tornava-se mais trémula e adquiria um estranho timbre metálico.
Mas nenhuma alteração sobrevinha nas suas relações com Paulinho. Sempre o mesmo silêncio. Por vezes, mas raramente, conversas curtas e acidentais, cujo tom em nada diferia daquele que usava com qualquer outra pessoa, aparte os cocheiros e as mulheres: um tom perfeitamente calmo, quase indiferente, o mesmo tom dos seus relatórios aos superiores, das suas censuras aos porteiros; era o tom com que persuadia os bêbados a regressarem a casa e com que respondia às perguntas dos passantes. De resto só muito raramente exercia esta última actividade, porque a avantajada estatura e o rosto dissimulado por uma espessa barba negra não incitavam ao diálogo.
278
À medida que o tempo passava, ficava cada vez menos tempo na guarita; mesmo à noite, quando não havia qualquer necessidade de estar de guarda na rua, saía e ia-se sentar no banquinho, sob os ulmeiros.
Ficava ali sentado, sem se mexer, como um tronco, toda a noite, até ao romper do dia; e por vezes adormecia naquela posição.
Em geral, porém, contemplava os campos para além do rio com uma atenção muito firme e ficava muito tempo sem desviar a vista do ponto que escolhera. Outras vezes, contrariamente a isso, levantava-se e ia até ao rio, sentava-se nas pedras e ficava ali como se estivesse a prestar atenção a algum ruído... O rio corria levando as suas ondas para longe e suavemente, suavemente, murmurava qualquer coisa para a margem...
Quanto ao Paulinho, à medida que crescia fechava-se cada vez mais em si mesmo, tornava-se cada vez mais sombrio e taciturno com os pequenos vizinhos e quase não tentava estabelecer relações com eles. Recordava-se das tentativas anteriores que lhe tinham dado mais aborrecimentos que alegrias.
Depois de uma dessas tentativas entrou na guarita agitado, apertando os dentes, com um olho negro e um lábio fendido e sangrento.
- Que tens tu? Andaste outra vez à pancada? - perguntou Aréfi examinando-o com ar bastante aprovador. És um bom guerreiro, meu velho. Não paras de te bater.
Paulinho sentou-se no banco sem dizer uma palavra, mordeu o lábio e cuspiu. Havia nele uma coisa que agradava muito a Aréfi: nunca vinha para junto dele lamentar-se ou chorar; ajustava as contas com os seus inimigos, na medida do possível, pelos seus próprios meios. Nunca chorava por mais que lhe fizessem.
- com quem te pegaste, agora? Outra vez com o Ogurkov, hem?
Em qualquer outra ocasião Aréfi teria ficado por ali, mas sentindo que Paulinho tinha sido ferido profundamente, esforçava-se por descobrir a verdade. Não teve
279
muito trabalho, porque Paulinho baixou subitamente a cabeça e perguntou com voz sombria, percorrido por um arrepio:
- Onde estão os meus pais?
Aréfi que arranjava algo no fogo, deixou cair o atiçador e endireitou-se diante do rapaz como se fosse o comissário; ergueu-se e, enrugando os olhos, contemplou, não sem espanto, a silhueta curvada. Paulinho não via a posição dele nem a expressão do rosto e esperou muito tempo uma resposta que não veio.
- E que espécie de pessoas eram? - disse Paulinho, levantando a cabeça; teve um sorriso mau, um SORRISO como não se vê nas crianças ao ver a cara estupefacta de Aréfi.
Desta vez o polícia recobrou o ânimo.
- A tua mãe era uma pega e o teu pai um filho da puta! - rugiu ele de tal modo que a guarita estremeceu. Reforçou depois aquelas expressões com uma vaga de palavrões pavorosos endereçados aos pais de Paulinho, palavrões como Paulinho nunca lhe tinha ouvido nem voltaria a ouvir.
Paulinho voltou a curvar-se e calou-se.
Aréfi sentou-se no banco, sem reparar que tinha no fogão uma panela com água a ferver que inundava as achas e as fazia crepitar com furor. Mantiveram-se muito tempo num silêncio cheio de pensamentos sombrios.
- Conheceste-los? - perguntou timidamente Paulinho.
- Eu? - trovejou Aréfi. - Como se fosse preciso conhecê-los. Pessoas que abandonam os filhos são pura e simplesmente malandros.
- E estão vivos?
- Quanto a isso não sei nada... Provavelmente já devem ter rebentado, os dois. Ela, com o desgosto de não te ter, segundo espero; e ele, afogado no álcool ou qualquer coisa desse género: deve ter estourado também ao pé de um muro... como um cão.
- E... tu viste-los?
- Nunca os vi, nunca vi na minha vida uma tal porcaria. Era o que me faltava! Tê-los visto!
280
Paulinho compreendeu, com a explicação final, que se Aréfi tivesse visto os pais dele, estes estariam provavelmente em maus lençóis; e tendo compreendido isso nunca mais levou a conversa para esse assunto explosivo. Foi precisamente Aréfi que, um belo dia, falou subitamente nisso, inspirado por um pensamento secreto, de carácter, ao que parece, algo romântico.
- Vê-se bem que não és filho de pessoas vulgares, dessa gentalha. Não tens um espírito comum, nem o resto. Não és da ralé.
De que observações tinha Aréfi partido para chegar à conclusão que Paulinho provinha de pessoas complicadas e requintadas, que ignoram o instinto que obriga a amar os filhos, era o seu segredo; porque Paulinho não lhe dava grande matéria para semelhantes deduções. Fora dessa ocasião, nunca o problema da origem do rapazinho foi levantado.
A criança preocupava-se com isso? É possível. Ele reflectia sempre de tal maneira e calava-se com uma obstinação tão suspeita, que esse problema não escapou, decerto, também, às suas investigações.
A imaginação do homem não conhece limites; a da criança admite-os ainda menos, porque a sua alma é mais secreta que a do adulto: não há nela esses pequenos aspectos sórdidos tão aparentes na alma dos adultos desde que a vida os pôs à prova.
Um belo dia, Aréfi, ao voltar do comissariado, viu a sua atenção atraída pelo estorninho: havia já algum tempo que este se conduzia de um modo estranho: ficava muito tempo imóvel no poleiro, depois de repente oscilava e caía no chão. Muitas vezes caía na taça da água e a seguir ficava muito tempo a agitar-se, batendo o bico e as asas. Depois de quedas como essas tinha sempre a maior dificuldade em voltar para o poleiro que antes atingia facilmente esvoaçando. Quando afinal o conseguia não se colocava no meio do poleiro, como antes, mas sim na extremidade, onde se podia apoiar contra as grades da gaiola. Mas nesse dia o pássaro manco agitava constantemente as
281
asas, esforçava-se por se agarrar com a pata ao poleiro e perdia visivelmente as forças.
- Vai morrer, o estorninho - anunciou Aréfi, examinando o pássaro com um olhar de conhecedor.
- Não! - pronunciou Paulinho um pouco alarmado; o estorninho era o seu pássaro preferido.
- É verdade. Vai morrer. Já está velho...
- Não lhe toques, deixa-o...
Paulinho levantou a cabeça e pousou um olhar desolado no pássaro que oscilava cada vez mais no seu poleiro.
- E se o puséssemos em liberdade? - perguntou ele a Aréfi.
- Faz o que quiseres.
Desceram a gaiola e levaram-na para junto dos sabugueiros diante da guarita. Era um belo dia de Março, poças de água brilhavam ao sol, a neve que fundia abria regos, e havia -muito tempo que não se via um horizonte tão aberto, tão maravilhosamente livre das massas cinzentas de nuvens invernais. Do outro lado do rio serpenteava um caminho, desenhava uma larga fita castanha e preta e nas bordas cintilavam ao sol as manchas de terra já libertas.
O céu era vivo e o jovem sol primaveril fazia-o brilhar alegremente. Mas nada disso podia reanimar o estorninho. Ele lançou um olhar sossegado à sua volta, sacudiu a cabeça, emitiu um frágil assobio prolongado, caiu do poleiro e morreu.
O acontecimento produziu-se no exacto momento em que Paulinho se preparava para abrir a porta da gaiola e para tirar o pássaro para o pousar num daqueles espaços já livres da neve.
Teve um arrepio e olhou com desgosto a pata do pássaro agitar-se nos sobressaltos da agonia; quando afinal, após um último estremecimento, ele cessou de se agitar, as lágrimas começaram a rolar-lhe pelas faces... Tirou o pássaro para fora e, enquanto o voltava nas mãos as lágrimas escapavam-se-lhe dos olhos e tombavam em cima das penas do estorninho morto.
- Então, se eu morrer também chorarás? - perguntou Aréfi com ternura, inclinando-se para ele.
282
Paulinho pousou o pássaro no chão e lançou os braços à volta do pescoço de Aréfi: mergulhou a cabeça no peito dele, balbuciando através dos soluços que lhe sacudiam todo o corpo.
- Vá, vá, não chores. Não tem importância. Há boas pessoas no mundo. Hás-de sobreviver. O pior é que não sabes dobrar a espinha, não te sabes submeter. É uma infelicidade. Mas quando é o contrário ainda é pior, porque então toda a gente te pisa aos pés. Não faz mal: tu cavarás o teu buraco. Antes de mais nada, estuda.
Embora com alguma dificuldade, com palavras entrecortadas, Aréfi conseguiu acalmar Paulinho e ambos fizeram o funeral do estorninho; cavaram uma pequena cova ao pé dos ulmeiros, guarneceram-na de cacos diversos e encheram-na de terra.
Paulinho, muito sentido com aquele acontecimento, obteve de Aréfi autorização para colocar uma cruz no túmulo e pôs-se a talhá-la com dois pedaços de madeira; quanto a Aréfi, mergulhado em pensamentos amargos que lhe cavavam profundas rugas na testa, estava sentado no banco, a um canto, e contemplava o que ele fazia.
- Penso que também não durarei muito. Às vezes tenho enjoos terríveis... Por isso...
Paulinho pousou a faca na mesa e pôs-se a ouvi-lo atentamente.
- Antes de mais nada, há o Miguel que me deve trinta e cinco rublos e quarenta copeques; além disso tenho ali na gaveta dezasseis rublos e meio. Não posso entregar-tos, mas vou levá-los à esquadra para que os guardem, há lá uma caixa para isso, e dar-me-ão um livrete amarelo. Ficarás com o livrete. De qualquer maneira quero-te pôr a aprender uma profissão. Oh! não vai ser fácil, não penses. As pessoas são cães raivosos! Bêbedos, ladrões, ordinários, debochados, sei lá que mais. Serás crivado de insultos e de pancadas... Não há outro remédio.
Aréfi levantou-se, pegou no boné, enfiou-o na cabeça com um gesto brusco e saiu da guarita, deixando Paulo, acabrunhado sob aquelas previsões, a acabar a cruz para a campa do estorninho. Aréfi só voltou muito tarde, de
283
noite, quando Paulinho já dormia, mas não voltou ao tema que tinha aflorado.
Passaram dois meses. Paulinho tinha-se recentemente convertido ao estudo e passava agora os dias a ler, mas as disciplinas intelectuais continuavam a estar, para ele, cheias de asperezas. Aqueles livros punham-no frequentemente fora de si; depois de ter decifrado uma palavra com o suor do rosto, percebia de repente que a conhecia há muito tempo. Isso enraivecia-o e perguntava a si próprio para que servia imprimir nos livros semelhantes palavras.
Um belo dia no seu furor contra o saber, declarou a Aréfi que todos aqueles livros eram "feitos de propósito" e que nada havia neles que lhe servisse.
- E de que tens então necessidade? - perguntou Aréfi.
- Eu? - disse Paulo, com ar sonhador. - Olha, está aqui escrito: "Quando está mau tempo há menos moscardos", e esta, por exemplo "pinho, vinho, linho; pão, leão, coração...". Para que serve isto, afinal?
- Sim, efectivamente, não se encontra... Mas lê mais adiante.
Paulinho lia mais adiante e a sua insatisfação mantinha-se, não encontrando ali nada que respondesse às perguntas confusas que lhe perturbavam a alma. Nesse dia tinha lido de ponta a ponta dois contos e, conforme o seu hábito, meditava, revoltado, aquele tema: para que serviam?
Da rua vinham os gritos e risos longínquos dos rapazes e um sol alegre entrava pela janela da guarita. Paulinho ficava ainda mais furioso porque isso impedia-o de se concentrar nos livros. Os pássaros chilreavam com vivacidade saltitando nas gaiolas e Paulinho olhava-os de esguelha recordando o seu velho desejo de soltar todas as aves. Algures ao longe ouvia-se o ruído surdo de uma caleche. Paulinho olhou para a janela. Um padeiro passava na rua e ele sentiu que tinha vontade de comer. "Aréfi vem hoje tão tarde!" pensou ele.
O ruído de trovão da caleche aproximava-se cada vez mais da guarita e eis que ela aparece na esquina; vem
284
um polícia no assento, mas não é Aréfi. É Miguel... "Que quer aquele?" pensou Paulinho saindo para a rua e parando à porta.
Miguel, logo que o viu, ainda de longe, pôs-se a fazer grandes gestos com os braços, como que a chamá-lo. Paulinho olhava-o e vendo que ele tinha um aspecto extremamente desordenado, o quépi de través, o capote desabotoado, adivinhou que tinha acontecido qualquer coisa grave.
- Salta e senta-te, depressa! - gritou Miguel.
- Que se passa? - perguntou Paulinho saltando para a caleche.
- Volta para o hospital - ordenou Miguel ao cocheiro batendo-lhe no ombro.
- Que aconteceu? - exclamou Paulinho empalidecendo e puxando pela manga de Miguel.
- Nada de bom. Aréfi perdeu o juízo. Maluco. Chalado. Estás a perceber? Foi ter com o comissário e disse-lhe: "Manda-me martirizar, eu sou um cristão. Martiriza-me, disse ele, não quero continuar a ter relações comigo." Gogolev ia-lhe dar um soco nos queixos, mas ele mostrou-se indiferente. "Bate-me, Dioscuros, disse ele, não deixarei de ser cristão até ao Juízo Final." Vê lá tu que grande idiotice!... E durante esse tempo o nosso Aréfi começou a tirar os processos da estante e toca de os atirar para o chão e de os pisar. "vou reduzir a poeira, dizia ele, os vossos ídolos" e assim por diante. Tinha que ser, amarraram-no com uma corda e leváram-no para o hospital. E ele não parava de falar. Caramba, os vossos livros fazem bem à cabeça. Não há dúvida, essa instrução é um flagelo. Começa-se por perguntar imediatamente como, quê, porquê e com que fim, e pumba... dá-se cabo da tola. Sinto-me doente só de pensar nisso, coitado, tão bom rapaz! Sim, isso era, era o meu camarada, um velho amigo.
Paulinho sentado, acabrunhado, sem forças, pálido, ouvia sem dizer nada e recordava Aréfi tal como o tinha visto ontem, e havia três dias e mais para trás ainda, no passado... Não havia nada de especial a notar no velho polícia a não ser que emagrecia de dia para dia, que os
285
olhos se afundavam cada vez mais nas órbitas e que o olhar, habitualmente parado e sombrio, era, nos últimos tempos, estranhamente vivo, e tinha um brilho bizarro ora alegre, ora assustado.
Uma vez, de resto, não havia muito tempo, tinha-se posto a contar como se vivia em Tachkent, o calor, a areia, os selvagens que lá viviam e alguns dos motivos pelos quais se devia matar aquelas pessoas como ratos. Mas depois de ter falado de tudo isso, calara-se até de manhã e ficara normal.
- E... ele vai-se curar? - perguntou Paulinho cortando a tagarelice de Miguel.
- Ele?... Bem... evidentemente... com certeza que sim. O doutor, o doutor... bem o doutor não pode saber de antemão o que se vai passar. Isso não pode. O doutor pode tratar e mais nada, não pode ir mais longe. Ouve uma coisa, fechaste a guarita? Cocheiro, pára. Fechaste a guarita ou não?
- Quero lá saber da guarita! - gritou Paulinho com irritação, fazendo com a mão um gesto que queria dizer "é caso para pensar nisso, agora?". - O doutor disse qualquer coisa? Falou? Por que mandaste parar o cocheiro? Vamos lá, tio Miguel, depressa!
- Vamos lá, como, se não fechaste a guarita? É muito esperto, este: "vamos lá" diz ele!... Que garoto!... Não vês que vão pilhar a guarita. Cocheiro, para trás! Volta para trás, faz o que eu te digo, palerma!
- Tio Miguel, tio Miguel, não faça isso. Vamos lá, ver o papá Aréfi. O diabo leve a guarita - gritava Paulinho, entregue a uma profunda agitação.
- É impossível, meu estúpido! Bem, eu vou à guarita, sozinho. Cocheiro, leva-o ao hospital. Vá, corre, leva-o ao pavilhão onde metem os loucos. E tu, Paulinho, ao chegar lá perguntas...
Mas a caleche arrancou com um ruído de trovoada e Paulinho não ouviu o que devia perguntar. Agitava-se no banco da caleche e pedia ao cocheiro, constantemente, para ir mais depressa.
- Estamos quase a chegar - dizia o cocheiro com voz persuasiva; fazia estalar os lábios, agitava o chicote
286
no ar e apostrofava o cavalo: "Essa agora! Onde te vais meter, idiota? Ficaste maluco, tu também?" Puxando bruscamente as rédeas, voltava-lhe a cabeça ora para a direita ora para a esquerda, ao que o cavalo replicava agitando com indignação a cauda magra e relinchando com cólera.
Ao anunciar-lhe a penosa notícia Miguel tinha como que arrancado do espírito de Paulinho um véu que até então o impedia de compreender e de perceber correctamente o que o cercava. A criança sentia-se sozinha, indefesa, e apurava instintivamente o ouvido; olhava à sua volta com desconfiança, esforçando-se por abafar a angústia fria que lhe dilacerava o peito e lhe dava vontade de chorar. Tudo: o cocheiro, a rua, as pessoas que nela caminhavam em todas as direcções, tudo agora lhe parecia mais estranho do que ontem, por exemplo, tudo despertava nele a apreensão e o temor de algo que feria e que era indesejável.
E até o céu, o céu de verão puro e ardente, ontem quente e acariciador, tinha-se tornado hoje abafado e seco, tinha deixado de ter qualquer relação com ele.
- Que é que tu achas, pode-se curar? perguntou Paulinho ao cocheiro, ao chegarem à grade atrás da qual se encontrava o edifício amarelo, frio e lúgubre do hospital.
- Ele? Curará? À esquerda, maldito, à esquerda. Raio de sorte.
Mas antes que o "maldito" tivesse tido o tempo de virar à esquerda, Paulinho saltou abaixo e voou como uma flecha para a parede amarela onde a mancha de uma porta aberta parecia uma goela escancarada.
Paulo foi engolido por ela, e envolvido por um sopro frio e nauseabundo que lhe quebrou o ímpeto deixando-o indeciso acerca do caminho a seguir.
- Que é que queres, tu? - perguntou alguém que ele não via.
Baixando a cabeça, sem procurar descobrir o interlocutor, Paulinho murmurou apressadamente:
- Procuro um polícia... enlouqueceu... trouxeram-no hoje... indiquem-me o caminho.
287
- Ah, bom, vai a direito, a direito. Ele era o teu pai, ou quê?
Paulo ergueu a cabeça. Diante dele moviam-se umas costas largas, vestidas com uma camisa vermelha.
- Então, é o teu pai? - perguntava aquele vulto, com voz de tenor, sem se voltar para o rapaz; e parou subitamente, de um modo tão inesperado e tão rápido que Paulinho chocou contra ele.
- Nicolau Nicolaievitch, aqui está o filho do polícia que veio hoje.
Um senhor de óculos aproximou-se dele e pegou-lhe no queixo.
- Sim? E então que queres tu, meu pequeno? - perguntou ele, com suavidade, numa voz acariciadora.
Paulinho, admirado, encarou-o. O senhor era magro, pálido, pequeno.
- Sim? E então que queres tu, hem?
- Queria vê-lo...
- Mas isso é impossível, impossível.
O rosto de Paulinho contraiu-se e começou a chorar baixinho. A cabeça andava-lhe à roda.
- Que vai ser de mim, agora? - perguntava ele no meio das lágrimas.
Mas o senhor já não estava ao lado dele; só ali estava o homem da camisa vermelha, com um avental branco. Estava diante de Paulo, com as mãos nas costas, e, mordiscando os lábios, examinava-o com ar pensativo. Paulinho encostou-se rigidamente à parede e começou a soluçar.
- Não choramingues: anda comigo, depressa, que o doutor não nos veja. Vamos! - e agarrando na mão do rapaz arrastou-o ao longo do corredor.
- Olha.
As mãos agarraram Paulinho por detrás, ergueram-no no ar e colaram-no contra um vidro redondo, emoldurado numa porta atrás da qual trovejava a possante voz de baixo de Aréfi.
Ele estava no meio do aposento, com uma longa blusa branca, as mãos solidamente amarradas atrás das costas, com um longo Darrete que lhe caía para um dos ombros
288
enfiado na cabeça, e falava. Todo o rosto e o crânio estavam rapados, o que lhe dava às grandes orelhas o ar de estarem descoladas; as faces tinham amarelecido e escavado, os olhos enrugados estavam completamente mergulhados nas órbitas negras e profundas; sob um deles tinha-se formado um inchaço violáceo, e na face esquerda uma pequena eslrela atraía os olhos; gotas de sangue desciam dali e cortando a face com um fio finíssimo, desciam ao longo do pescoço e desapareciam no colarinho da blusa. Aréfi tinha-se tornado terrivelmente magro e alto.
- Vocês precipitaram-me nesta masmorra! - vociferava ele, com os olhos cintilantes. - Suporto os tormentos em nome do meu Deus e suportá-los-ei até ao fim dos tempos. Mas destruí os vossos ídolos e reduzi a cinzas os vossos altares! Sim, reduzi a cinzas os vossos altares e enquanto não me arrancarem a língua denunciar-vos-ei, malditos. Vocês esqueceram o verdadeiro Deus e rebentais nas trevas do deboche e da obscenidade, demónios! demónios! demónios! Vocês conspurcam a alma das crianças!... Não há salvação para as vossas almas!... Abomináveis pagãos, não entrareis no reino dos Céus!... Não sois mais que destroços!... Destroços! Vocês puseram-me a tormentos... Por que crime me puseram a tormentos e me encheram de pancadas? Pela verdade, pelo Deus que me enche o coração!
A sua voz de baixo ora trovejava como a tempestade ora enfraquecia até não ser mais que um murmúrio, um cochichar cheio de suavidade e de angústia que arrepiava Paulinho e o levava a afastar-se, aterrorizado, da vigia vidrada.
- Espero a morte, pagãos! Espero a glória! Onde estão os carrascos, os torturadores? Anátema! Anátema! Anátema!
Gritos selvagens, terríveis, faziam estremecer a porta, e o vidro, através do qual Paulinho espreitava, tilintava suavemente.
- bom, já chega! Vai para casa. Vai, antes que o doutor te veja.
289
Perseguido pelos gritos de Aréfi, Paulinho saiu do corredor sem compreender nada, sem ver nada e foi-se embora. Caminhou durante muito tempo; repercutiam-lhe nos ouvidos as maldições de Aréfi e o zumbido do seu terrível murmúrio. Aquele rosto anguloso, amarelo e glabro ora aumentava até proporções desmedidas e os olhos ficavam então enormes, como o sol, e igualmente brilhantes, embora com um brilho negro, tenebroso, ora se fragmentava num sem número de pequenos rostos que caíam como granizo diante dos olhos de Paulo, atravessando-lhe o coração com mil olhares agudos, enchendo-o de uma melancolia desesperada cujo peso de momento se tornava mais avassalador.
Surgiam-lhe na memória, para desaparecer no mesmo instante, diversas imagens do seu passado comum com Aréfi cheio de vigor, barbudo, taciturno... essas imagens surgiam, desvaneciam, outras apareciam em sua substituição para, por sua vez, desaparecerem... Um turbilhão arrastava o espírito da criança, ora lhe deixando ver, num relâmpago, quase todo o seu passado, repentinamente, ora o mergulhava bruscamente em estranhas trevas sem pensamentos e sem imagens; depois aparecia-lhe novamente diante dos olhos quer um único episódio do passado, quer toda uma cadeia de acontecimentos ligados, sem ordenação cronológica, com a dor abafada e angustiosa que nele despertavam as recordações, a pena que sentia por Aréfi, o temor por si próprio, todo um caos de sentimentos que se sucediam, se misturavam e pesavam como uma pedra na cabeça, nos ombros, no peito...
Diante dele havia um rio de onde subia um bafo gélido. Escuro, murmurando suavemente histórias misteriosas, corria para o desconhecido envolto na noite onde se perdia. Por cima dele um céu coberto de nuvens esfarrapadas, desfeitas; por entre os rasgões brilhavam pedaços de céu azul onde cintilavam duas ou três estrelas. Todo o céu era tão esfarrapado, tão arruinado, que dir-se-ia prestes a cair de um momento para o outro em cima da terra e no rio calmo e sonolento cujas vagas escuras reflectiam as miseráveis parcelas de azul que as nuvens
290
não cobriam e as pobres estrelas solitárias que tremulavam. Para lá do rio o longe tornava-se mais escuro e o silêncio mais assustador.
Paulinho apressou-se para a guarita, mas esta estava fechada à chave. Então, após um momento de expectativa, estendeu-se debaixo do maciço de sabugueiros e deixou-se ficar, deitado de costas, a seguir o lento deslizar das nuvens no céu, até adormecer com um sono profundo cheio de pesadelos.
Pancadas nas costas despertaram-no, abriu os olhos, viu um rosto familiar que se inclinava para ele e fechou novamente as pálpebras sob os raios do sol que o atingiam em pleno rosto.
Esse instante bastou para se lembrar perfeitamente de tudo o que passara na véspera.
- Vá, de pé! - disse por cima dele uma voz feminina. Levantou-se prontamente. A tia Maía estava à sua
frente e examinava-o com uma curiosidade cheia de ternura.
- Anda para minha casa. Ora vejam lá onde ele veio dormir, pobre pequeno! Por que não foste passar lá a noite?
Paulinho ficou silencioso. Não gostava da tia Maía. O que lhe desagradava nela era a sua enorme estatura, a sua força, aquele hábito que ela tinha de praguejar continuamente, os olhos cinzentos, a voz de peito vulgar, e todo o seu ser cheio de energia, em permanente alerta ou em luta com qualquer coisa.
Foram para casa lado a lado.
- Vá, vá, não fiques assim. Deus e as boas pessoas te ajudarão e tu irás para a frente. Mas não te deixes distrair a olhar para ontem. Abre os olhos, vai ao fundo das coisas, tenta compreender onde as pessoas querem chegar. Aprende a viver. E é um trabalho difícil. Olhar para ontem não é permitido. Se não fizeres assim serás sempre um pobre diabo. Talvez tenha sido uma boa coisa para ti que esta desgraça tivesse acontecido. Porque a verdade é esta: que tinha Aréfi de bom para ti? Nem atenção
291
verdadeira nem conhecimentos. Só sabia amimar-te. Isso não ia dar nada. Tu és um rapaz, é preciso que sejas tratado como um rapaz. Ele próprio, para dizer as coisas como elas são, era o rei dos patetas. É preciso cavar a vida e ele punha-se a ler livros, grande negócio. Tu, deixa-te disso, vive o teu tempo, cava o teu lugar ao sol, junta forças, atrai as simpatias, isso é mais hábil que qualquer livro. Passou onze anos da vida dele como guarda e ao fim e ao cabo não juntou nada que prestasse!...
Paulo ouvia, irritava-se e, em resposta às exaltadas considerações filosóficas de Maía, soltava grunhidos de desaprovação. Quando ela chamou pateta a Aréfi ele ganhou audácia e puxou-lhe pela saia como que para a impedir de continuar a denegrir o seu pai adoptivo; mas entregue ao prazer da eloquência ela não notou as tentativas dele e prosseguiu com vivacidade:
- Não te fies nos homens. Quando te fazem rapapés mentem-te, quando te adulam mentem, quando te insultam dizem a verdade, e ainda não a dizem toda, guardam uma parte para outra vez. Começa por te pôr à tabela com toda a gente, desconfia, pergunta a ti mesmo se não corres o risco de te subtraírem qualquer coisa e se vês que não, avança à vontade, mas, apesar de tudo, abre os olhos e não te fies em ti próprio. Muitas vezes devemo-nos portar connosco como se fôssemos estranhos. O próprio homem, em assuntos dele, nem sempre descobre o que é melhor. Pensa que está de um lado e pumba, mergulhado no pântano!
Exaltada com a sua própria sabedoria a tia Maía esqueceu com quem estava a falar, e, entrando em subtilezas cada vez mais profundas, acabou por declarar subitamente:
- E connosco, com as mulheres, sempre com o pé atrás!...
Mas nesse momento o olhar caiu-lhe, por acaso, no do seu ouvinte. Ele saltitava ao lado dela, seguindo com dificuldade aqueles passos masculinos de Maía e tinha, por contraste com a sua possante figura, um ar puerilmente infeliz e miserável, com a sua velha camisa vermelha
292
os pés descalços, o rosto sombrio, bexigoso, ainda cheio de sono e os cabelos despenteados.
- Pah!
Cuspiu energicamente e isso pôs um ponto final nos sermões; até ao posto da polícia não disse mais nada.
Ao entrarem no corredor, Miguel veio ao encontro deles com um boião na mão.
- Ah!, já vieram! óptimo, óptimo! São horas de pôr o almoço na mesa, mulher, hem! Onde estavas tu, pequeno, onde passaste a noite?
- Lá... Junto da guarita...
- Raio de rapaz! - comentou Miguel com voz arrastada, pensativo, seguindo-os até ao quarto.
Maía já tinha tirado o casaco e mexia no fogão com o atiçador.
- Olha, tenho aqui queijo branco... Que se pode fazer com isto, ha?
- Queijo branco? Onde o arranjaste? - perguntou Maía com animação tirando o boião das mãos do marido e metendo lá o nariz. - É bom, ha, é do fresco!
- Claro. Foi um que me deu de presente... para me agradecer - explicou Miguel, piscando o olho à mulher e dando um estalo com a língua.
- Estou mesmo a ver, meu espantalho de pardais disse Maía, com uma palmada amigável na nuca do marido.
- Mas isto não é tudo, minha pequena mulherzinha... Vamos comer, e quando me tiveres enchido a barriga eu te contarei.
- Conta, conta, conta!... - disse Maía caminhando para ele com a expressão da maior curiosidade.
Miguel meteu a mão ao bolso e fez tilintar algumas moedas; no rosto rapado e luzidio lia-se o triunfo.
- Quanto? - perguntou Maía com voz alegre.
- Um e meio, mais cinco copeques; e um pequeno frasco de pepinos ainda por cima.
- Só isso! - comentou a mulher com voz arrastada, mas desta vez com uma certa decepção. - Quarta-feira foi melhor.
- 293
- Quarta-feira foi qúarta-feira e hoje é sexta. Há mercado e mercado. E hoje, o novo Comissário, sabes, o Karpenko, andava-me a olhar de lado. Grande malandro. Casou com duas lojas e com um monte de dinheiro, e agora é puro como um recém-nascido. Assim também eu casava.
- Espera aí, meu velho estúpido! Eu te casarei com o meu atiçador.
Durante todo aquele diálogo conjugal Paulo ficou junto da porta: olhava para ambos e sentia que estava ali a mais, que tinha sido esquecido, que aquelas pessoas não tinham qualquer necessidade dele. Tentou várias vezes imaginar qual seria o seu futuro, mas não o conseguiu.
- Tiozinho! - chamou ele, interrompendo aquela troca de amabilidades conjugais. - Levaremos muito tempo, a ir lá?
- Ir lá, onde? - perguntou Miguel, voltando-se para ele.
- Mas... ao hospital...
- Que necessidade tens de lá ir. Estás a ficar maluco, tu também? Senta-te aí no banco e deixa-te estar sossegado, vamos já comer. Os meus miúdos vêm da escola e depois vocês irão passear juntos, e todo o resto...
Paulo sentou-se no banco e mergulhou no seu desgosto, sem notar nada do que se passava à sua volta. Ao fim de um certo tempo chamaram-no para almoçar. Sentou-se à mesa mas afastou a colher, sentindo que não tinha vontade de comer.
- Bem, que é que tens? - perguntou Maía não sem severidade.
- Não tenho vontade.
Os dois esposos começaram então, cada um deles com maior zelo que o outro, a fazer-lhe longos sermões que, de resto, não os impediam de esvaziar rapidamente a grande panela de barro onde uma espécie de caldo exalava um cheiro espesso de gordura derretida e couves estragadas.
"Anátema!"; a palavra ressoava nos ouvidos de Paulo como pancadas metálicas abafadas.
294
"Anátema!", repetia ele num murmúrio, representando à sua frente o rosto macilento e demente de Aréfi. Percorria-o um arrepio, mexia os lábios, e o sangue ora lhe deixava o rosto, ora afluía à cara numa onda precipitada e ardente; segundo o fluxo e o refluxo do sangue as marcas do rosto bexigoso ora empalideciam e se lhe destacavam nas faces e na testa, ora se fundiam em grandes placas vermelhas.
- Que estás para aí a rezar, ha? He, sarapintado, pateta! - gritou-lhe Miguel ao sair da mesa.
- Depois vou... - disse Paulo com voz resolvida saindo do banco.
- Onde? - perguntou Maía severamente.
- vou à guarita.
- Vais à guarita, fazer o quê? Há lá um novo guarda. Não te conhece, não te deixa entrar... Deixa-te estar aí, não te mexas.
Paulo sentou-se e pôs-se a cismar. Miguel deslizou para detrás da cortina de chita que tapava a cama. Ouviu-se o colchão ranger.
- E os pássaros? - perguntou o rapaz saindo da sua cisma e lançando um olhar interrogador a Maía.
- Soltei-os, soltei-os todos. Tudo o que lá havia, como haveres, trouxe-o para aqui. Por isso não tens lá nada que fazer! - respondeu Miguel por detrás da cortina. Bocejou com delícia.
- E a maleta, onde está? - perguntou Paulo após um momento.
Miguel já ressonava. Maía tinha-se sentado junto da janela a remendar roupa. A pergunta de Paulo ficou sem resposta. Então encolheu-se na ponta do banco, puxou as pernas para debaixo do corpo e ficou assim sossegado, todo encolhido.
"Que lhe ia acontecer agora?" perguntava a si mesmo. Imaginou o rio e os pedaços de madeira flutuantes. Às vezes um deles é empurrado para a margem e encalha. Paulo recorda que os repelia sempre para entrarem de novo na corrente. Não gostava de os ver recusarem-se a prosseguir a viagem para o longe onde o rio se perdia... "E onde se perde o rio?" "Desagua em outro e depois
295
perdem-se ambos no mar", dizia Aréfi. "O mar é muita, muita água, de tal modo que se te afastares de uma margem até a perderes de vista, ainda não vês a outra, nem a verás ao fim de um dia, ou dois ou três." Talvez afinal Aréfi dissesse tolices. Porque ele é doido... Teria sido sempre doido?
Ficou muito tempo imóvel, sentado no seu canto, a pensar em Aréfi, no mar, e regressava sempre à mesma interrogação: onde iria ele dar afinal de contas? Que lhe aconteceria amanhã?
Um cochichar indistinto arrancou-o ao seu estado de torpor. Supondo certamente que o rapaz dormia os esposos falavam dele, por detrás da cortina.
- Ele perguntou pela maleta...-dizia Maía.
- E então? - perguntou Miguel, preocupado.
- "E onde está a maleta?", foi o que ele perguntou.
- Ah!, o patife! - cochichou Miguel com voz de surpresa. - Que vamos fazer dele? É preciso metê-lo em casa do Savélitch o mais depressa possível. Estamos a ver que ele sabe que havia dinheiro na maleta. Tu devias levá-lo já amanhã, Maía.
- Para que diabo te preocupas assim, homem?... Amanhã!... Que raio de pressa!... Estás com medo, pateta? Onde foste arranjar tanto medo?
- Sim, mas se ele nos pergunta: "E o dinheiro que estava na maleta?" ha? Que havemos de dizer, então?
- Deixa-te disso!... - respondeu a tia Maía, num tom amargo; depois o cochichar deles baixou tanto que Paulo não conseguiu apanhar mais nada.
Esta conversa não despertou nele qualquer sentimento novo em relação ao casal, embora tivesse compreendido perfeitamente que eles se preparavam para o despojar. Mas a coisa deixou-o completamente indiferente, em parte porque não fazia uma ideia clara do poder do dinheiro, mas sobretudo porque era incapaz de pensar em outra coisa que não fosse a miserável sorte de Aréfi e aquele misterioso "amanhã" que lhe escondia a sua vida futura.
Tinha tido sempre uma atitude de animosidade para com o casal, e aquele dia tinha reforçado essa animosidade com um sentimento novo, igualmente pouco elogioso.
296
Sabia que não lidaria com eles muito tempo porque não se sentia capaz de lhes suportar o contacto mais um dia e compreendia perfeitamente, de resto, que a sua presença lhe era desagradável e incómoda.
Agora que eles ressonavam em competição pareciam-lhe ainda mais desagradáveis do que acordados. Sentado num canto, prestava atenção aos ruídos que eles faziam a ressonar e, balançando para a esquerda e para a direita, pensava no problema obsessivo daquele dia seguinte que não era capaz de imaginar.
Agitação atrás da cortina: bocejos e gemidos, após o que, Miguel, todo desgrenhado e com o rosto inchado do sono, entrou pesadamente no quarto.
- Estás a dormir? - perguntou ele, dirigindo-se a Paulo.
- Não! - respondeu este.
- E os meus filhos, vieram?
- Não! - repetiu Paulo, monossilábico.
- Não, não, não, é tudo o que sabes dizer. Bem, devem ter ido ao arrabalde, a casa da tia. vou pôr o samovar, daqui a pouco entro de guarda.
Seguiu pelo corredor fora, para tratar do samovar. Por sua vez Maía saiu da cama. Depois de ter examinado Paulo em silêncio, pôs-se a coçar a cabeça.
Paulo olhava-lhe os espessos cabelos castanhos e pensava que ela era nova, não tinha um único cabelo branco, ao passo que Aréfi era todo grisalho.
- Que estás a pensar, Paulo? Como vais viver agora, nesta terra? - perguntou de repente Maía voltando-se e fazendo caretas por causa do pente que lhe arrancava os cabelos em lugar de os pentear.
- Não sei! - disse Paulo abanando a cabeça.
- Hum! - comentou Maía. - E quem o deve saber? És tu que o tens de saber, meu pequeno, tu e mais ninguém.
Soltou um suspiro e calou-se. Paulo também se manteve calado. Ficaram assim até que Miguel trouxe o samovar a ferver e se puseram à mesa. Beberam algum tempo, sempre em silêncio.
297
- Olha meu rapaz! - começou a tia Maía, enchendo para si uma terceira chávena de chá; já tinha tido tempo de começar a transpirar e de desapertar os dois botões de cima, da blusa. - Agora ouve-me bem e fixa o que te vou dizer. - Pronunciou aquelas palavras num tom solene e calou-se gravemente alguns momentos. - Vou-te levar para casa de um sapateiro nosso conhecido, e ficarás lá como aprendiz. Vive sem fazer tolices, trabalha, aprende, ouve o patrão e os companheiros e assim te tornarás num homem. A princípio a vida vai-te parecer difícil, mas tem paciência. Só podes contar contigo mesmo. Nos dias santificados vem até à nossa casa. Vem cá como se fosses da família, come, bebe. Teremos sempre prazer em te ver. Percebes?
Paulo tinha compreendido e confirmou-o com um aceno de cabeça.
- Não esqueças aqueles que tomaram conta de ti. Nós. Não nos esqueças. E nós também não te esqueceremos- declarou Miguel, com ar sentencioso e em tom protector. Fixou atentamente Paulo, à espera do que ele ia dizer.
O rapaz levantou para ele um olhar interrogador. Parecia perguntar: "e por que não esquecer?". Mas baixou os olhos sem dizer nada.
Novamente o silêncio. Paulo examinava o casal e sentia-se com possibilidades e no direito de lhes ser desagradável. Primeiro não soube imaginar nada de eficaz; mas depois lembrou-se:
- E onde está a maleta, tiozinho? - perguntou, subitamente.
Os dois esposos trocaram um olhar.
- A maleta, meu caro, sou eu que a tenho. A respeito dela não te preocupes, ficará inteira. Quando fores grande vens cá e dizes: "Tiozinho, dê-me a minha maleta" e eu irei buscá-la imediatamente para a entregar: "Recebei, Paulo, a vossa maleta em perfeito estado!" Ha!... Quanto ao que havia dentro, as tuas cuecas, as tuas camisas, bem... Vais... Vais levar isso contigo.- Acabada a sua réplica, Miguel suspirou pesadamente e a
- 298
face rapada ostentou uma expressão dolorosa e ofendida. Maía segurava a língua e olhava Paulo com ar inquisidor.
- bom, mas havia lá dinheiro, na maleta. Que lhe aconteceu?
- Dinheiro? - exclamou Miguel com ar interrogativo, dirigindo-se a Maía com a voz e o rosto cheios de um enorme espanto:
- Mulher! Havia dinheiro dentro? Havia dinheiro na maleta? Eu não vi nada, meu caro, não vi dinheiro nenhum. Que Deus me fulmine.
- Que estás para aí a jurar a Deus, meu palerma? Alguém duvida de ti? Vá, velho pateta... se não viste nada, não viste nada e pronto. Para quê juramentos?
- bom, eu, invoquei o nome do Senhor porque calhou. Isso não é pecado. Está escrito: "não o invoques em vão", mas eu invoquei-o dentro da verdade.
Paulo olhava para ambos, via que Miguel tinha ficado perturbado com a pergunta e que ainda agora não dominava a sua perturbação; mas Maía estava perfeitamente segura. De repente encolerizou-se e foi mais longe:
- Havia na maleta dezassete rublos e além disso devias a Aréfi trinta e cinco. Essa é que é a verdade. Foi mesmo ele que me disse. Disse-mo ainda não há muito tempo.
com grande espanto de Paulo, que não esperava nada de semelhante, o casal começou a rir alegremente. Maía atirou a cabeça para trás, todo o corpo, com o peito empinado, estremecia, rindo com um riso forte, masculino, enquanto Miguel fazia tilintar um riso metálico e entrecortado.
Paulo desconcertado olhava-os e também sorria, com um sorriso desconfiado, como se conseguisse decidir se devia rir com eles ou não.
- Caramba, o teu Aréfi era um grande ponto!... Trinta e cinco rublos! Hem! Não era pobre a inventar, esse!... articulou Miguel por entre as gargalhadas.
- Pateta de rapaz! Aréfi disse-te isso e tu acreditaste. Pensaste que tudo isso era verdade! Mas tu não vês que ele é doido?... Meu tolo, não sabes que ele perdeu a
299
pinha? - articulou Maía, com uma compaixão irónica quando venceu o seu violento acesso de riso.
Paulo sabia agora o que esse riso significava. Soltou um profundo suspiro, empalideceu e, sacudido pelo furor, atirou-lhes à cara com voz forte:
- Vocês estão a mentir. São ambos mentirosos. Pensam talvez que não ouvi o que diziam ainda há pouco, na cama? Ouvi tudo. Ladrões! É o que vocês são: ladrões!
- e Paulo reforçou aquelas palavras com um pontapé na mesa.
Miguel estava estupefacto. Olhou para Maía com os olhos enrugados, cheios de temor, apoiou-se com as duas mãos à mesa e ficou inteiriçado nessa posição. Mas Maía era senhora de vários truques, e confirmou-o uma vez mais, praticamente.
- Ora aí está!-exclamou ela com ar assustado, saltando do banco, quando Paulo acabou de gritar e se sentou no lugar, pálido e emocionado, com os olhos cintilantes de cólera. - Ai, meu Deus!... Miguel, corre, vai chamar o médico! Corre, depressa!... Não vês que o pequeno também ficou doido? Vês, vês? Repara como lhe brilham as meninas dos olhos!... Ai, Deus do céu!... É bem verdade que uma desgraça nunca vem só! Fomos bem castigados! Coitadinho... ele tem tão bom coração! Não conseguiu suportar a infelicidade de Aréfi... Perdeu a pinha!... Ficou maluco!
Paulo apesar da sua agitação, compreendeu que tinha sido levado. Compreendeu-o e de repente começou a chorar, lavado em lágrimas, lágrimas amargas, raivosas, com ódio, nascidas do seu sentimento de impotência para se medir com a vida e os homens, as suas primeiras lágrimas, o seu primeiro dia de isolamento.
Depois de o terem aterrorizado por aquele processo, não chamaram evidentemente nenhum médico e, até que ele adormeceu, encheram-no de atenções e cuidados. Deitaram-no na ponta do banco onde passara a maior parte do dia e ao adormecer ele ainda ouviu a voz forte de Maía:
- Tem defesas, o garoto. Tem os dentes duros. É bom que seja assim, quer dizer que ele rasgará o seu caminho, que vencerá...
300
Paulo sonhou com uma multidão de monstros alegres. Horrorosos e enormes, ou pequenos e miseráveis, rodavam à sua volta, rindo e rangendo os dentes. O riso deles fazia tremer tudo em redor e Paulo também tremia; em lugar do céu havia por cima dele um grande buraco negro de onde eles caíam em cachos um a um. Era terrificante mas ao mesmo tempo alegre.
De manhã acordaram-no, deram-lhe o chá e levaram-no à oficina do sapateiro. Paulo ia com indiferença mas não pressentia nada de bom, no que certamente nãose enganava.
Eis que o introduzem num aposento escuro, de tecto baixo, onde no meio de um turbilhão de fumo de cigarro quatro figuras humanas cantavam canções e batiam com os martelos. Maía segurava Paulo pelo ombro enquanto falava com um homenzinho gordo, de pernas curtas, que se balançava murmurando:
- Em minha casa... é o paraíso! Não é a vida, é o paraíso! E a alimentação... essa é divina... tudo em minha casa é o paraíso... Adeus.
Maía foi-se embora. Paulo sentou-se no chão e pôs-se a tirar uma das botas onde qualquer coisa o picava. Enquanto o fazia sentiu um doloroso pontapé nas costas e viu atrás de si, no chão, um velho pedaço de bota e na porta um rapazote da idade dele, todo enfarruscado, que lhe punha a língua de fora e murmurava distintamente:
- Eh, palerma, bexigoso, vai para o diabo que te carregue!
Paulo voltou-se e calçou a bota, suspirando.
- Anda aqui ver isto - gritou-lhe um dos homens que estava sentado num banquinho muito baixo. Paulo dirigiu-se a ele, corajosamente.
- Pega nisto! - disse o homem metendo-lhe na mão um linhol untado. - Mexe-o assim, desta maneira. Bravo, és jeitoso. com mais força. - Paulo fazia aquilo com encarniçamento, enquanto olhava, por baixo, o que se passava à sua volta.
Assim entrou Paulo na honrosa confraria do trabalho. A oficina onde trabalhava pertencia a Miron Savélitch, um homem gordo, redondo, de olhinhos porcinos e imponente
301
calvície. Não era mau homem, tinha sensibilidade e tratava a existência com certo humor; quanto aos homens ria-se deles com benevolência. Devia ter lido muito outrora e isso reflectia-se na sua maneira de falar, mas agora, aparte as etiquetas das garrafas, não lia mais nada. Quando estava bêbado tratava os operários como camaradas, e um pouco mais severamente quando estava sóbrio, mas de qualquer modo dava-lhes raramente razão para estarem descontentes. De resto, ocupava-se pouco com a oficina dada a sua tendência para as bebidas alcoólicas e todo o negócio repousava sobre o avô Utkine, um velho soldado de perna de pau, homem directo tanto no que dizia como no que praticava, partidário acérrimo da hierarquia e da ordem.
A seguir ao avô Utkine, vinham dois operários: Nikandro Milov e Colas Chichkine. O primeiro tinha os cabelos cor de fogo, era audacioso, gostava de cantar e ainda mais de beber e sabia perfeitamente que, quando lançava os olhares de esguelha, com os olhos esverdeados e joviais, franzindo as sobrancelhas, o rosto adquiria uma beleza de salteador.
O outro era incolor, tinha o ar manhoso, doente, e tinha um mau carácter, um carácter cruel; como falava com voz suave e baixa sabia atrair inicialmente as simpatias, mas repelia depois as pessoas com qualquer saída inesperada e maldosa. A partir do segundo dia Paulo começou a sentir repulsa por ele.
Depois vinha o garoto, Artémio. Traquinas e zaragateiro incorrigível, termanentemente enfarruscado de lixo, de cola, de breu, começou imediatamente a armar contenda com Paulo e essas relações belicosas depressa se resolveram numa batalha. Artémio foi batido e essa derrota surpreendeu-o. Ficou oito dias a seguir Paulo com um olhar sombrio, esforçando-se por lhe fazer pagar, por todos os meios, a sua derrota, mas vendo que o outro se mantinha completamente indiferente a todos os seus ataques, decidiu estabelecer tréguas.
- Olha lá, bexigoso, vamos fazer as pazes! - disse ele. - Estou-me nas tintas que me tenhas batido. Isso aconteceu porque ainda estás forte, mas espera aí,
302
quando estiveres aqui há mais tempo, perderás a força e será a tua vez. Está bem?
Estendeu a mão e Paulo apertou-lha em silêncio.
- bom, mas tu és o mais novo, disso não há dúvida. E como és o mais novo, és tu que deves fazer os trabalhos pesados. Está certo? Concordas?
Paulo olhou para aquela cara toda suja e respondeu que estava de acordo.
- Assim está bem! - disse Artémio um pouco admirado. - Gosto de ti. Bem, então vais arrumar a oficina, pôr o samovar, cortar a lenha, acender o fogão, varrer o pátio e todo o resto.
- E tu? - perguntou Paulo.
- Oh, para mim ainda fica muito que fazer. Mais do que para ti.
Acertada com Paulo aquela divisão do trabalho, ficou completamente livre; durante cerca de cinco dias sorriu alegremente a ver o camarada cobrir-se de suor sob o fardo das suas tarefas.
Mas o avô Utkine reparou nisso, chamou Artémio e, depois de lhe ter dado uma pancada na cabeça, disse-lhe que ele, Artémio, era um espertalhão mas ainda não o era suficientemente; depois disso fixou equitativamente as tarefas e chamou Paulo, disse-lhe que ele era um palerma e deu-lhe também as suas instruções.
Desde aí, entre Paulo e Artémio, os limites das suas obrigações recíprocas ficaram perfeitamente definidos. Paulo recebeu todos os trabalhos pesados que não tinham nada que ver com o ofício de sapateiro, ao passo que Artémio se via instalado numa pequena caixa e era iniciado pouco a pouco nos segredos da profissão, o que lhe deu subitamente o direito de olhar para Paulo ainda de mais alto e mesmo de lhe gritar com voz de comando.
Paulo perguntou a si mesmo em que é que o avô Utkine lhe tinha modificado a sorte mas não achou resposta: tudo se mantinha como Artémio tinha destinado, apesar de Utkine ter dito que tinha arranjado as coisas à sua maneira.
A passagem da existência tranquila e meditativa que era antes a sua na guarita de Aréfi, para esta vida cheia
303
de palavrões e insultos, era demasiado brutal para Paulo e acabrunhava-o. Ele, que tinha o hábito de ficar sozinho consigo mesmo durante dias inteiros, ou na companhia do silencioso Aréfi, dificilmente se acostumava à presença constante de quatro indivíduos que achavam maneira de cantar de manhã até à noite, de falar de coisas de que ele não entendia nada, de zombarem uns dos outros e de se expandirem, sem a menor razão aparente, numa enorme quantidade de palavrões, pelo menor dos quais Aréfi os levaria para a esquadra. Enquanto pensava isso, Paulo observava os seus superiores com ar sombrio e mal disposto, não os compreendia e receava-os um pouco.
Eles notavam aquela atitude, zombavam dele ainda mais, e levavam-no por vezes a um tal grau de exasperação que se lhe acendia nos olhos uma desagradável chama verde.
Frequentemente organizavam em conjunto uma perseguição em regra. Começavam normalmente por contar a história de um bebé marcado pelas bexigas que tinha sido encontrado no passeio. O patrão tinha-lhes contado a triste história de Paulo e eles esclareciam-no com tanto espírito e jovial despreocupação que o rapazinho tinha a sensação de estar em cima de brasas. Aqueles pormenores cínicos da vida, levados ali ao primeiro plano, brutalmente, e cuja existência ignorara até então, chocavam-no. Quando falavam do pai ou da mãe, pintando o possível aspecto exterior deles e a possível ocupação, com sarcasmo, Paulo tinha a impressão de que qualquer coisa o sugava, lhe esmagava o peito, lhe apertava terrivelmente a garganta...
A cada uma dessas cenas ardiam nele diversos sentimentos, de um modo cada vez mais forte, e o rosto bexigoso tornava-se tão vermelho que metia medo. Depois de se terem divertido à sua vontade, os rapazes deixavam Paulo sossegado e esqueciam-no, mas ele, que se tinha mantido obstinadamente calado durante todo o tempo em que o tinham coberto de sarcasmos, não esquecia nada.
Tornava-se cada vez mais taciturno, as sobrancelhas franzidas deixaram de se levantar e formaram uma profunda ruga no início do nariz. Essa ruga, o seu ar taciturno
304
e severo, a cabeça permanentemente baixa, valeram-lhe a alcunha de "Velhinho". Ele não fez caso disso e respondia quando o chamavam por esse nome. Toda a gente via nele um garoto desagradável, cheio de pensamentos reservados, um espertalhão. E acabaram por o tratar com desconfiança, como se se esperasse dele uma má partida.
Nikandro aventou um dia que o Velhinho devia ter matado um homem, em tempos, e que era torturado pelo desejo de matar outro; ou então que estava apaixonado, sem esperança, da cozinheira, Seménovna. Colas Chichkine não partilhava aquela opinião: a sua era de que o Velhinho tinha a arrogância demasiado desenvolvida e que algumas tareias dadas em períodos regulares poderiam muito bem curá-lo. Artémio, considerando-se no direito de emitir o seu parecer, aventou a hipótese de que, se cortassem os calcanhares do Velhinho e pusessem nas feridas cerdas de porco muito finas, ele se tornaria um tipo tão alegre que não pararia de dançar de manhã até à noite.
Avô Utkine, que ouvia aquilo tudo, comentava:
- Vocês são uns cachorros! O rapaz trabalha. Não zurra como vocês fazem. E então? Assim é que está bem. É sério. É o feitio dele.
E contou a propósito a história de um comandante de companhia que tinha também um carácter taciturno e tinha morrido com uma espinha de peixe que se lhe atravessara na garganta.
No fim da primeira semana toda a oficina tinha formado acerca de Paulo uma opinião segura, que nada tinha de lisonjeira. O rapaz sentia-o mas, evidentemente, não podia alterar nada nem imaginava sequer que isso pudesse ser alterado. Cumpria judiciosamente tudo o que se lhe mandava fazer, sem resmungar e em silêncio. E quando, nos raros momentos em que os seus companheiros estavam com boa disposição e se esforçavam por conversar com ele sem zombaria no tom nem curiosidade malévola, ele respondia-lhes com calma, por monossílabos; acabavam sempre por se sentir descontentes com ele e voltavam aos gracejos e aos insultos. Essa alteração admirava-o, e
305
pôs-se a considerar qualquer frase que lhe era dirigida com suavidade como uma espécie de ratoeira para o atrair à conversa e o colocar na situação mais propícia para as zombarias. A sua atitude tornou-se cada vez mais reservada, a sua desconfiança aumentou.
As coisas estiveram assim cerca de um mês; depois, acostumou-se pouco a pouco à ideia de que, certamente, ele não se parecia com os outros, uma vez que era tratado de modo diferente; a sua atitude de expectativa desconfiada embotou-se até à apatia para com toda a gente e para com os acontecimentos da oficina.
Os companheiros também se tinham familiarizado com o seu aspecto taciturno, e o que as relações entre as partes tinha de agudo foi-se atenuando, sem melhorar radicalmente como é fácil adivinhar.
Paulo trabalhava, calava-se, recebia pancadas, bofetadas, pontapés e muitas outras marcas de atenção, e prosseguia porque não podia imaginar que naquele buraco cheio de fumo, no meio daquela gente ruidosa, se pudesse obter qualquer outra coisa, fosse o que fosse.
No domingo, dia de liberdade, ia passear com um pedaço de pão negro escondido debaixo do casaco; mas depois de ter dado três vezes a volta à cidade concluiu que havia poucas coisas interessantes e limitou os seus passeios a um jardim abandonado que pertencia ao seu patrão. Ali, atrás da estufa, havia uma cova maravilhosa cujo fundo era atapetado com ervas fortes e espessas. Paulo deixava-se escorregar e, deitado de costas, contemplava o céu durante horas. À sua volta a brisa fazia rumorejar as bardanas e um arbusto degenerado de groselha; as abelhas zumbiam, animalejos vermelhos com o dorso coberto de arabescos pretos rastejavam... e Paulo observando-os, assim como a tudo o que o cercava, aprendia pouco a pouco a pensar.
A vida na oficina quase não lhe retinha a atenção. Constituía para ele uma espécie de mistério melancólico a respeito do qual não tinha tempo de se interrogar nem, de resto, desejo de o fazer, porque não se sentia suficientemente forte para o conseguir. Mas aqui, na cova, ela surgia novamente perante ele no seu desenrolar normal,
306
desde a segunda de manhã até ao sábado à noite. E um dia em que reconstituíra tudo na sua memória foi
de súbito assaltado por esta pergunta: "para que serve tudo isso? Para quê coser botas para outros e andar-se descalço, esbanjar todo o dinheiro em bebida como avô Utkine ou perdendo-o às cartas como Colas? Para quê andar atrás das raparigas para depois se lamentar delas com uma amargura cómica, como o Nikandro, que todas as manhãs de segunda-feira
relatava uma aventura espantosa, onde era sempre citada uma "ela", havia uma rixa, um "ele" a quem escapara ou à polícia. Para quê obrigar as pessoas a trabalhar para beber o dinheiro que ganharam e zombar de si próprio e da sua paixão pelo vodka, como o fazia o patrão?... E tudo, em geral, para que servia?"
Paulo pensava que se Aréfi tivesse saúde poderia explicar-lhe tudo aquilo. Mas Aréfi continuava doente.
Já o tinha ido ver duas vezes. A primeira foi simplesmente impedido de entrar e na segunda foi-lhe dito que Aréfi não tinha cura e que para ele, Paulo, era perigoso e inútil vê-lo. Esta declaração provocou em Paulo a maior estupefacção: abriu os olhos desmesuradamente, fixando-os no médico, incapaz de lhe fazer a pergunta que lhe ardia na ponta da língua; depois fez meia-volta e saiu com o sentimento de uma ofensa.
Quanto a Miguel, decidiu não o ir ver, supondo, com razão, que nada tinha de bom a esperar dali.
Os dias sucediam-se uns aos outros, uniformes, monótonos, sem deixar a Paulo nem pena, nem desejo de os ver diferentes; eles depunham-lhe na alma, camada sobre camada, sombrios pensamentos que tomaram, com o tempo, um carácter metafísico, abstracto; quase nunca se referiam à vida real...
A vida é como é, e as pessoas vivem como podem; vê-se bem que não pode ser de outra maneira e que, por consequência, tudo isso está mais ou menos bem... Algumas vezes acontecia-lhe ouvir exclamações do género: "raio de vida!" ou "que vida de cão!" mas não retinham a sua atenção, em primeiro lugar porque, na maior parte dos casos, eram proferidas em dias de boca a saber a farrapo velho (segunda-feira), e em segundo lugar
307
porque uma "vida de cão" não era, do ponto de vista dele, uma vida miserável; os cães não fazem nada, são livres, alegres, e gozam muitas vezes da atenção, da amizade e das carícias dos seus donos.
A princípio o patrão e os companheiros interessavam-no; esforçava-se por compreender as suas acções e os seus desígnios: mas teria sido muito difícil, não só para ele mas até para os próprios objectos das suas observações. A atitude deles a seu respeito destruiu completamente esse interesse, que se tornou ainda mais formal, indiferente e puramente maquinal. Forjou um modelo segundo o qual passava os seus dias de trabalho, forjou processos e movimentos especiais; quer dizer, tornou-se uma pequena máquina a quem se deu corda uma vez por todas até ao dia em que enferrujaria ou se quebraria.
Acabaram por o considerar como um idiota e estavam no direito de o fazer. Havia efectivamente algo de idiota nos seus movimentos lentos e sem vida, nas suas respostas monossilábicas, na sua incapacidade de se interessar por tudo aquilo que era considerado interessante pelos seus companheiros.
Mas aos domingos, estendido no fundo do fosso, no jardim, Paulo meditava e dava rédea solta à sua imaginação, acerca de diversos temas no género deste: "Por que é que o sol, que passeia no deserto azul do céu, nunca se engana, não acaba por se aborrecer de deambular sempre no mesmo sítio?" Algumas vezes pensava que se quisesse pintaria o sol com outra cor, ou o largaria no céu ao mesmo tempo que a lua, ou qualquer outra fantasia nesse género, não menos espiritual que essas.
Ao fim de dois anos dessa vida tornou-se mais alto, mais seco, e as marcas da varíola tornaram-se mais evidentes, no rosto.
Durante esse tempo Artémio tinha passado da categoria de aprendiz à dos operários e tinha tomado o lugar do ruivo Nikandro a quem as autoridades tinham oferecido uma estadia de três meses na prisão por qualquer proeza onde fizera valer a sua intrepidez. Colas Chichkine tinha intenção de se casar e de se estabelecer por sua conta. Avô Utkine bebia e queixava-se de falta de
308
ar, as mãos tremiam-lhe e impediam-no de trabalhar, o patrão, que o observava, começou a embebedar-se em casa, e a frequentar as tavernas cada vez menos, sentindo que Utkine não podia continuar a levar a cabo a direcção da oficina.
Pouco a pouco, Paulo foi iniciado nos segredos da arte de fabricar galochas; sob a direcção despótica de Artémio, aprendia a cortar e a coser pequenos pedaços de couro com as solas. Contra toda a expectativa da oficina, e até do patrão, ele revelou-se bastante hábil como operário. Isso levantou-lhe um pouco a reputação.
Mais tarde, Chichkine foi-se embora, o salário de Artémio foi aumentado, Paulo passou para o lugar dele e admitiu-se um novo rapaz. Paulo recebe agora três fublos por mês, cose entre as intermináveis canções do alegre Artémio e os grunhidos senis de Utkine, e mantém-se normalmente silencioso. O patrão, acha que agora há pouca obra, não mete novos operários e quando as encomendas se acumulam trabalha ele mesmo, o que lhe dá muito prazer e o direito de beber com redobrado ardor.
- Que vida esta! - diz ele muitas vezes, fazendo passar o linhol através do coiro, com um gemido.-Trabalha-se e bebe-se, há quem chame vida a isto?... É um raio de ratoeira, esta, rapazes! A propósito, são horas de comer. Michu! Diz à Séménovka que ponha a mesa, e tu salta ao tasco, traz meia de vodka. Eh, avôzinho, bebes um copo?
O avôzinho agita alegremente os bigodes grisalhos, o patrão sorri, e Michu - um pequeno patifório de dez anos com a cabeça coberta de anéis de cabelo preto e com olhos de rato - galopa para trazer a meia garrafa, dando saltos espantosos em plena corrida e fazendo caretas aos transeuntes.
Decorridos dez anos daquela vida, Paulo era um jovem de aspecto imponente, forte, alto, ligeiramente curvado e muito musculoso: as mangas da camisa, sempre arregaçada, mostravam a pele morena dos braços completamente percorrida por uma rede de veias azuladas, e sob compridos cabelos castanhos, quando estava sentado, curvado em cima do calçado, o pescoço brilhava, robusto
309
e flexível, coberto por uma fina penugem. No rosto bexigoso a barba começava a nascer, dura, e o lábio superior já aparecia ornado de um pequeno bigode claro. Não se tinha tornado mais sociável nem mais animado durante esse tempo, e sob as sobrancelhas espessas, sempre franzidas, os olhos eram ainda mais desconfiados e tristes do que dez anos antes.
Continuava a gozar, junto dos seus camaradas de oficina, da fama de "velhinho": um homem sobre o qual, por motivo da sua extrema estupidez, os prazeres da bebida, a frequência de diversos locais de prazer e outros divertimentos do género não exerciam a mínima atracção. Tinham-se no entanto acostumado a ele, tinham praticamente abandonado as zombarias, em parte porque lhe temiam a força, mas ainda mais porque, de qualquer modo, não havia processo de o "fazer sair dos gonzos", como eles diziam.
Ninguém sabia de que era feita a vida dele, exceptuando aquela parte que era comum a todos, e, para dizer a verdade, ele próprio não o sabia. Paulo tinha um aspecto obtuso, parado, incapaz de chorar ou de rir.
O patrão, agora um velho de cabelos todos brancos e de carnes flácidas, disse um belo dia, a respeito dele, que já estava morto e não ressuscitaria antes da hora em que os arcanjos anunciariam o fim do mundo, e onde, com vontade ou sem ela, seria então obrigado a mexer os ossos; mas até lá ele ficará ali sentado, sossegadamente, no canto da oficina, a não ser que esta caia em escombros e o obrigue também a fugir. Paulo ergueu os olhos para o patrão, decerto com vontade de dizer qualquer coisa, mas acabou por se contentar com um sorriso pálido.
- De qualquer modo, agradeço-te! - disse Miron Savélitch, que esperava mais e examinava calmamente o seu operário.
Nessa qualidade ele estava muito satisfeito com Paulo, talvez até o estimasse: em todo o caso, quando estava bêbedo testemunhava-o ruidosamente, e, quando sóbrio, dedicava-lhe uma atenção maior do que a que lhe mereciam os outros.
310
Esses outros não eram mais que dois: Michu, um patifório de dezanove anos, e Guss - o Ganso -, um zarolho de quarenta anos, com um pescoço de um comprimento inacreditável, que tinha esticado daquele modo, a acreditar no que ele contava, porque na sua juventude era dotado com uma maravilhosa voz de tenor e cantava no coro episcopal. Agora não tinha qualquer espécie de voz, a não ser que se considerasse como tal o guincho monótono que lhe servia para exprimir os pensamentos e expressões.
Artémio tinha desaparecido, havia muito, da carreira de sapateiro; tinha começado por fazer um pequeno comércio de várias coisas, depois tornou-se empregado de café, a seguir reapareceu subitamente na oficina de
Miron, foi admitido, pegou num par de botas que alguém tinha terminado nesse momento e desapareceu; dessa vez abandonou a cidade.
Também o velho Utkine tinha partido há muito para uma licença ilimitada. Um dia tinha-se sentado a coser e suspirava de tal modo que parecia que a alma se partia. Nos últimos tempos aquilo tinha-se tornado constante e cada dia que passava a respiração tornava-se-lhe mais difícil; ninguém reparava porque pensavam que estava a coser a bebedeira. Mas naquele dia os suspiros não paravam e por fim, pousando o martelo que lhe servia para amaciar o couro, ergueu os olhos para o tecto e perguntou, sem se dirigir a ninguém em especial:
- Devo chamar o pope, ou não vale a pena?
Ninguém lhe prestou a maior atenção, porque também aquilo não era novo. Mas um dia aconteceu um incidente: Utkine deve ter achado que um simples pope não era suficiente, exigiu que o levassem ao bispo, e ainda por cima num carro fechado. Mas depois do almoço repararam que ele levava muito tempo a sair do seu canto, atrás do fogão, onde tinha o seu catre; quando o foram chamar constataram que estava morto.
Paulo ficou muito afectado. Olhou para todos durante muito tempo com olhar interrogador, mas decerto não soube formular a pergunta e deixou-se estar calado.
311
Quando Utkine foi enterrado, Paulo começou a visitar a campa, num canto húmido e sombrio do cemitério, escondido do sol por espessas moitas de sabugueiros. Ali, sentado no chão, olhava para o longe através de um buraco no muro de pedra e via a guarita de Aréfi, o rio, os campos e a floresta; rememorava a sua infância e o seu taciturno amigo que, ao fim de dois anos de estadia no hospital, morrera de esgotamento.
A morte de Aréfi não tinha produzido em Paulo qualquer efeito especial: pelo menos não exprimiu desgosto ou qualquer outro sentimento.
Os seus passeios dominicais abrangiam agora uma vasta região. Tinha deixado de frequentar a cova do jardim e, além do cemitério, ia agora até ao alto da montanha, fora da cidade; dali podia ver todo o aglomerado urbano como a palma da mão; ouvia-a sussurrar, grande e imóvel, e olhava as minúsculas silhuetas negras das pessoas a correrem còmicamente em todos os sentidos; ia até à floresta e lá, depois de ter descoberto um canto afastado, deixava-se ficar estendido horas e horas a ouvir o murmúrio das árvores; algumas vezes ia até uma aldeia dos arredores e passeava pelas ruas, observando todas as coisas com um olhar atento e prescrutador, ou entrava na taverna e ficava uma hora ou duas diante de uma garrafa de hidromel ou de cerveja, a ouvir as conversas dos camponeses. Algumas vezes um bêbado metia-se com ele, mas o seu ar taciturno e severo agia estranhamente sobre os outros, menos ébrios, que se interpunham:
- Desaparece! Deixa o homem em paz! É um da cidade! Vá, vai-te embora! - gritavam eles ao bêbedo, lançando a Paulo olhares desconfiados e hostis.
Pagava o que devia e partia sem dizer uma palavra. Uma vez foi apanhado na porta por um cochichar de advertência: "É um bufo!". Não voltou a pôr os pés naquela aldeia.
Vestido com um casaco muito razoável, calças largas e uma camisa russa bordada e apertada na cintura com um cinto de seda, com franjas, um boné enfiado na cabeça e bem calçado, com botas altas feitas por ele próprio, alto, forte, sério, não tinha aspecto de operário e não era
312
fácil, com base no seu exterior, classificá-lo em tal ou tal categoria social.
Era assim na época em que se produziu na sua vida o acontecimento que devia "erguê-lo e depois atirá-lo a terra" segundo a expressão do patrão.
- Eh! Cara de palerma! - atirou Miron Savélitch ao aprendiz Arsénio ao entrar na oficina uma bela manhã.
- Trata de limpar hoje o samovar; não se pode olhar para ele, está mais sujo que o teu focinho! E tu, Paulo, trata de arranjar as botas do tenente, estás a perceber?
- Está bem! - disse Paulo, martelando um tacão sem se voltar para o patrão que se sentara a seu lado.
O Ganso tinha encavalitado os óculos no nariz e cosia o cano de uma bota, enchendo o aposento com o ranger da máquina de costura.
A oficina, empestada pelos cigarros e rjelo cheiro do couro, recebia pela janela aberta o sol de Maio e os ruídos da rua, os passos dos transeuntes e o estrondo das caleças.
Miron Savélitch lançou uma olhadela para o exterior onde iam e vinham os pés humanos de toda a espécie, pegou num pedaço de couro e, examinando-o com olhos enrugados, começou a falar com a sua voz de baixo, quebrada.
- Sabem? Temos agora cá no prédio interessantes vizinhas. Duas. Da espécie "borboleta nocturna". Abram os olhos, meus caros.
Não obteve resposta mas isso não o perturbou, e, depois de uma curta pausa, prosseguiu:
- Tu devias tratar de as conhecer, Paulo. Talvez te ensinassem pelo menos a conversar. Pareces um monge! Preparas-te para não perder o Paraíso? Não vale a pena ralares-te muito, meu velho. Os sapateiros não são lá admitidos. Não há lá qualquer necessidade deles, toda a gente anda descalça uma vez que o tempo também é paradisíaco. É assim mesmo.
- Gelados! Bons gelados!
- apregoou na rua uma sonora voz de tenor.
- Não sejas tolo, Paulo, trava relações galantes com as duas inquilinas, hem! Elas depressa te porão em brasa,
313
e te moldarão à sua maneira. É verdade que está escrito no livro de Salomão: "Não entregues à mulher as tuas forças, nem os teus caminhos àqueles que perdem os reis", mas isso não nos diz respeito. Não se pode negar que as mulheres são uns grandes números; se as deixassem à vontade elas poriam do avesso este mundo de Deus em menos de nada. Caramba, que valsa! Em primeiro lugar todas as mulheres casadas poriam os maridos fora da porta, e as solteiras correriam, um, dois, um, dois, para o casamento! Tudo isso daria uma boa trapalhada".
Nesse dia Miron Savélitch sentia-se falador e "relatava mentirolas" como chamava às fantasias do patrão o devoto Ganso, que tinha acabado de fazer barulho com a sua máquina e examinava com ar sabedor o cano da bota, esforçando-se por imitar em falsete a execução orquestral do "Rei dos Céus". Em matéria de falsete o que resultava era um silvo de serpente; e o Ganso, esfregando com a mão o longo pescoço, expectorava com encarniçamento e cuspia para todos os lados.
- Que tens tu, Paulo, para ter ficado tão vermelho?
- perguntou subitamente Miron Savélitch, olhando o seu operário. - A tua testa está a arder.
- Não sei! - respondeu Paulo com voz abafada, passando a mão pela fronte que cobriu de manchas negras.
- Não te enchas de pomada, não vais ficar melhor por isso - comentou o patrão, judiciosamente. - Tens os olhos esquisitos! Não te sentes bem?
- Não!... Realmente... não me sinto lá muito bem.
- Hum! Hum! - reflectiu o patrão. - Ouve, larga o trabalho. Aquele, ali, acabará as botas. Vai-te deitar!... Descansa um bocado!...
Paulo levantou-se e dirigiu-se para a porta a cambalear.
- Vou-me deitar na cave, no caso de ser preciso qualquer coisa - disse ele.
Ao atravessar o pátio sentiu que as pernas tremiam, que a cabeça parecia cheia de líquido e andava à roda; manchas vermelhas e verdes flutuavam no ar, diante dos olhos...
314
A atmosfera húmida e pesada da cave pareceu-lhe saturada de um vapor espesso. Desabotoou o colarinho da camisa, tirou o pesado avental feito de sacos de farinha e estendeu-se, com as mãos sob a nuca, sobre um colchão que ali estava, a um canto, em cima das tábuas húmidas.
Estava escuro; mas através das fendas do alçapão passavam raios de sol que cortavam as trevas com finas e trémulas lâminas que ora desapareciam, ora reapareciam. Passos abafados ressoavam no pátio, a cabeça zumbia-lhe de um modo estranho, as fontes batiam como se estivesse embriagado e o sangue corria nas veias numa onda rápida e ruidosa; isso tornava-lhe penosa a respiração e dava ao hálito um odor de sangue fresco e quente. As manchas continuavam a dançar-lhe diante dos olhos, ora pequenas e brilhantes como olhos de gato, ora grandes e escuras como pedaços de marroquim; caíam do alto, em turbilhão, leves como as folhas secas no Outono.
Paulo estava estendido, com os olhos muito abertos, e esforçava-se por não se mover, com medo de cair num abismo profundo e de ficar muito tempo suspenso nesse precipício cheio de vapores ardentes e sufocantes. Debaixo de si, à sua volta, tudo vacilava, tudo andava à roda com tilintar leve e monótono que lhe enchia a cabeça e vibrava de um modo insuportável nos ouvidos.
Passaram assim muitos minutos, estranhamente lentos, quando de repente a luz do dia irrompeu pelo alçapão aberto e ele ouviu a voz familiar de Arsénio.
- O almoço está pronto.
- Não tenho fome - respondeu Paulo. Pareceu-lhe bizarro que ainda se estivesse na hora do
almoço e ainda mais bizarro o som da sua voz. Tinha a impressão de ter decorrido tanto tempo depois de ter saído da oficina que a voz não devia ter já o timbre habitual, firme e abafado. A cave voltou a ficar na sombra, como se a luz se tivesse escapado com um salto e de novo começaram a decorrer longos minutos cheios daquele tilintar irritante nos ouvidos. Paulo tinha a impressão de que algo de quente e húmido o afundava. Perdeu os sentidos. Mas através da sua inconsciência sentia a sede e a falta de ar a aumentarem.
315
- Há uma espécie de manequim deitado lá em baixo.
- Deve ser um dos sapateiros do rés-do-chão... Deve estar bêbedo.
- bom. Deixa-o em paz... Paulo abriu os olhos e voltou vagarosamente a cabeça
pesada na direcção da porta.
Havia luz na cave e, ao lado do alçapão, estavam duas raparigas. Uma delas erguia a tampa, a outra, em pé, ao lado, tinha na mão uma caneca de leite e na outra um saco. Olhava para o canto onde estava Paulo, com grandes olhos azuis, e dizia á companheira com uma voz de peito, pura e rica:
- Vá, Catarina, mexe-te!
- Experimenta levantá-la tu - respondeu Catarina, esforçando-se por erguer a pesada tampa húmida. A voz era mais abafada e mais vulgar.
- Olha para o sapateiro, que olhos me põe! Oh! Oh! Parece que me quer comer! - prosseguiu a primeira.
- Não tens mais que o salpicar com o teu leite.
- Era o que me faltava. Estragar o leite...
Paulo olhava-as com os olhos brilhantes de febre e parecia-lhe que ambas flutuavam num nevoeiro, muito longe dele, tão longe que quando ele pronunciou com voz rouca e abafada: "dêem-me de beber", não esperou ser ouvido.
Mas elas ouviram-no e a que tinha a caneca do leite na mão deixou cair o saco e, levantando a bainha do vestido com a mão livre, dirigiu-se para ele, enquanto a outra descia meio corpo na escada que dava para a cave e a seguia com os olhos, com curiosidade.
- Então, pelo que vejo a bebida não dá alegria! Catarina, manda-me uma bola de neve, eu não vou pôr-me a dar-lhe leite! - ouviu dizer Paulo, por cima da sua cabeça. com esforço, pediu novamente:
- De beber... depressa.
Depois viu que os olhos azuis se aproximavam do seu rosto e o examinavam atentamente.
- Oh!, Catarina, como ele é bexigoso!... Mas não está bêbedo!... Não cheira a vinho!... Catarina, ele está doente, juro-te que está doente! Está a arder em febre, respira
316
como um fole. Bando de brutos, porem um doente nesta cave!... Ah! que filhos da mãe!... Toma, bebe, bebe! Há muito tempo que estás aqui? Não tens família? Por que não foste para o hospital?
Mantinha nos lábios de Paulo a caneca que ele agarrara com as mãos trémulas e, enquanto ele bebia avidamente, acocorou-se a seu lado e pôs-se a metralhá-lo com perguntas, esquecendo-se de que, nitidamente, ele não podia beber e falar ao mesmo tempo.
- Obrigado! - disse ele, afastando a caneca e deixando cair a cabeça no enxergão.
- Quem diabo te meteu num sítio tão húmido? O teu patrão, não? Deve ser um grandíssimo camelo!-disse ela indignada, tocando-lhe a testa com a mão.
- Não, vim sozinho - respondeu Paulo, sem tirar os olhos dela.
- Bonito!... Há muito tempo que estás assim?
- Desde manhã...
- Oh! Deves ter lutado contra a doença toda a semana, e por fim tiveste de cair... claro... Foi isso mesmo!... Catarina, que vamos fazer dele?
- Essa agora! Deitá-lo em gelo, na cave, ou levá-lo para tua casa, se calhar! Caramba! Como podes ser tão estúpida? Anda embora!
Mas ela reflectia, sem responder à amiga, com as sobrancelhas enrugadas num esforço de concentração.
- Tu, deixa-te estar deitado!-prosseguiu ela, decidida, curvada para o rosto dele. - Deixa-te estar, trago-te já vinagre e vodka com pimenta, estás a ouvir?
Levantou-se e desapareceu.
Saíram ambas, sem fechar o alçapão, deixando atrás de si um ruído de discussão entre as duas.
Paulo poderia pensar que tudo o que se passava era resultado do delírio, se não tivesse na boca o sabor desagradável do leite, a camisa inundada e,no rosto, a sensação nítida de uma mão suave a acariciar-lhe as faces e a testa. Pôs-se a esperar o regresso dela. Uma estranha curiosidade dominou-o, alterando todas as suas sensações doentias; tinha uma furiosa vontade de saber o que se ia passar. Nunca tinha observado antes, em si mesmo, um tal
317
desejo de conhecer o futuro. Voltando-se de lado, de costas para a abertura da cave, fixou o solo com olhos congestionados pela doença. l
Ela voltou, depressa, trazendo numa das mãos uma garrafa coroada por um copo de licor, e na outra uma espécie de trapo molhado.
- Vá, bebe! - disse ela, e quando Paulo estendeu a mão e abriu a boca, ela própria, com a ajuda do copo, lhe enfiou na garganta qualquer coisa que, de repente, lhe encheu de fogo a língua, o palato, a goela e o fez tossir.
- Ah! É bom?-exclamou ela em tom triunfal, pondo-lhe seguidamente, na cabeça, o esfregão frio e húmido! de onde emanava um odor acre e desagradável.
Paulo deixava-a fazer tudo sem dizer nada e seguia-a com os olhos.
- bom! Agora podemos falar. O teu patrão é um patifório? Pior para ele. Eu própria te levarei amanhã ao hospital. Sentes-te mal? Paciência, amanhã talvez estejas melhor. Não podes falar, pois não?
- Não... posso...-disse Paulo.
- Não vale a pena, cala-te. Os médicos proíbem os doentes de falar. Deixa-te estar deitado, já te disse.
E não achando certamente mais nada para dizer, passeou o olhar à sua volta com o ar de alguém que de repente é acometido de vómitos.
Paulo não tirava os olhos dela e perguntava a si mesmo porque fizera ela tudo aquilo por ele. Eram ambos estranhos um para o outro. Ela devia ser aquela inquilina de que o patrão tinha falado. Como era o nome? Decidiu que era necessário perguntar tudo isso.
- E... como... se chama? - murmurou ele, penosamente.
- Eu? Natália... Natália Krivtsova. Por quê?
- Por nada...
- Ah! - comentou ela, vagamente. Depois, examinou-o dos pés à cabeça e pôs-se a cantarolar baixinho.
- E você? - perguntou de repente, interrompendo a canção.
- Paulo...
- Que idade tem?
318
- Vinte anos.
- Portanto, está para ir para a tropa! - concluiu ela, remetendo-se novamente ao silêncio.
- Não tem família?
- Não. Sou um enjeitado - disse Paulo baixinho, sentindo que a cabeça recomeçava a doer-lhe atrozmente e que a sede voltava.
- Ah, ah!...-fez ela, deixando arrastar a voz e aproximando-se dele. Encarou-o com os olhos azuis e um ar admirado, como se não compreendesse como é que ele, tão grande e tão vigoroso, podia ser um enjeitado.
- Dê-me de beber - pediu Paulo.
- Pronto, pronto! - apressou-se ela. Pegou na caneca do leite, enfiou-lhe uma das mãos na nuca, ergueu-lhe a cabeça e exclamou:
- À tua saúde! Deus misericordioso!
Ele bebia e olhava aquele rosto de perto, primeiro descuidado e agora preocupado e grave. Esta preocupação pareceu-lhe mais próxima e mais compreensível e aumentou o seu desejo de falar com ela.
- Diga-me, por que faz isto? - perguntou ele de repente, em voz alta, logo que acabou de beber.
- Faço o quê? - perguntou ela. Passeou à sua volta um olhar interrogativo que acabou por deter, estupefacta, sobre Paulo.
- Bem... O que faz por mim, tudo isto... Deu-me leite, o vinagre... fica aí sentada... fala comigo, e tudo... Por quê? - pronunciou Paulo, assustando-se por ver que ela se afastava dele, como que vexada e mesmo amedrontada.
- Você tem piada! Não sei... sei lá porquê! Você é umser humano, parece-me... ou não é? Caramba, isso é ridículo! - e encolheu os ombros com ar perplexo.
Paulo abanou vagamente a cabeça, voltou-se para a parede e calou-se. Estranhos pensamentos vagabundeavam-lhe na cabeça doente. Pela primeira vez na sua vida alguém lhe prestava atenção, e quem? Uma dessas mulheres a respeito de quem a atitude de Aréfi e todas as histórias, muito pouco elogiosas, que corriam na oficina, lhe metiam medo, de quem ele não gostava, e nas quais
319
pensava, desde há muito tempo e em segredo, escondendo esses pensamentos de si próprio e descontente por causa deles. A mulher é o eterno inimigo do homem, um inimigo que só espera o momento propício para o reduzir à escravatura e lhe chupar o sangue. Essa era a opinião recebida a respeito das mulheres, aquela que tinha ouvido exprimir mais frequentemente. Às vezes, encontrando uma bela rapariga que, tímida e apressada, seguia pela rua, Paulo seguia-a com os olhos e pensava: "Meu inimigo, passarinho, então!" A curiosidade inquieta que manifestava sempre que se falava de mulheres, era objecto de gracejos intermináveis da parte da oficina e do patrão. Suscitava uma admiração zombeteira e suposições grosseiras que o vexavam horrivelmente; outras vezes, pelo contrário eles acusavam-se a si mesmos, diante dele, dos seus desvarios e louvavam a firmeza de princípios de que ele dava- provas. Em resultado disso, ele via que a mulher representava um papel enorme na vida das pessoas um papel que abraçava todas as coisas e não conseguia relacionar com essa conclusão dos seus pensamentos e observações, a outra conclusão, a que pretendia que a mulher fosse um inimigo, essa igualmente confirmada não já, desta vez, pelas suas próprias observações, mas pela voz unânime de todos os que podia interrogar.
O patrão tinha-lhe um dia feito uma prelecção: "Tem cuidado com as mulheres, Paulo, e é quanto basta. Se não te submetes a uma mulher, farás o teu caminho na vida. Pergunta a quem quiseres, toda a gente te dirá que não há no mundo grilheta mais pesada que a de uma mulher. É um animal ávido, gosta de viver bem e trabalhar pouco. Acredita no que te digo, estou na terra há cinquenta e dois anos e fui casado duas vezes".
E eis que essa terrível e misteriosa criatura tinha avançado para ele e lhe dera a agradável sensação de ser, ele, o Paulo melancólico que não se parecia nada com os outros homens, digno dos seus cuidados, eis que ela viera e se sentara a seu lado, o solitário de que ninguém necessitava. "Que faz ela?" pensou; voltou-se vagarosamente e olhou-a
320
Estava sentada no chão e olhava para o pátio, com ar pensativo, através de uma frincha da tampa mal fechada do alçapão. O rosto era amável e belo, suave, com bonitos olhos azuis e lábios vermelhos, carnudos.
- Agradeço-lhe todos os seus cuidados - disse Paulo baixinho, estendendo a mão para ela, num gesto involuntário.
Ela sobressaltou-se, olhou para ele, mas não pegou na mão.
- Pensava que estava a dormir. É preciso tirá-lo daqui. Tem de ser, a humidade mata-o. É melhor levantar-se.
Paulo não retirou a mão e repetiu com insistência:
- Agradeço-lhe todos os cuidados que tem tido comigo.
- Oh, meu Deus! Você tem cada uma! Agradecer o quê? Que cuidados? Está tanto calor lá fora que até é agradável ficar aqui sentada. Levante-se, então.
Alguma coisa a tinha aborrecido e, enquanto o ajudava a erguer-se, desviou dele o rosto: dir-se-ia não querer que os olhos se encontrassem.
com o movimento que fez, Paulo sentiu o sangue afluir-lhe à cabeça e provocara um ruído abafado.
- Sinto-me mal! - murmurou ele, sentindo vacilar as pernas e todos os ossos estremecerem, doloridos.
- Não tem importância, aguente-se. De uma maneira ou de outra terá de o suportar. Não pode ficar aqui.
Amparado por ela atravessou o pátio, oscilando, numa espécie de nevoeiro através do qual distinguia as caras do patrão e do Ganso que sorriam ironicamente, de pé, no limiar da oficina.
- Não posso mais!... - disse ele com voz rouca, sentindo-se desmaiar; mergulhou depois num abismo sem fundo...
Pela primeira vez na sua vida, Paulo travava conhecimento com o hospital. As paredes de um amarelo enjoativo o cheiro fedorento dos medicamentos, as caras fatigadas e maldosas dos enfermeiros as fisionomias impassíveis do médico e do seu assistente, os gemidos, o
321
delírio e os caprichos dos doentes, as batas cinzentas, os barretes, o ruído monótono e exasperante dos chinelos a arrastar no solo lajeado, tudo isso junto fundia-se numa harmonia parda de desânimo e de impotência, de torpor e de angústia que torturava incessantemente o coração...
Paulo tinha delirado durante onze dias, e já havia cinco dias que a crise tinha passado e começava a convalescer.
Durante esse período, segundo lhe dizia o enfermeiro, tinha recebido uma vez a visita do patrão, duas a do Ganso, e duas vezes também a da irmã, uma vez acompanhada por uma amiga e a outra vez sozinha. Tinha-lhe deixado no depósito chá, açúcar, compota e qualquer outra coisa num embrulhinho.
Quando o enfermeiro lhe falou da irmã Paulo abriu a boca de espanto, mas lembrou-se que só podia ter sido Natália e esse pensamento encheu-o de alegria sem que ele conseguisse compreender a razão.
- com certeza... - murmurou, sentindo que ficaria ainda mais contente se pudesse vê-la.
Mas, como tifoso, não podia receber visitas e o enfermeiro explicou-lhe que isso duraria até ser transferido para o pavilhão número cinco.
- Nesse pavilhão as pessoas são admitidas, ao passo que aqui, no pavilhão dos infecto-contagiosos só podemos entrar nós e os médicos.
O enfermeiro disse aquilo com uma espécie de orgulho triste do seu privilégio sobre os outros, mas a sua explicação provocou uma pergunta de Paulo: - seria transferido brevemente para o outro pavilhão?
- Tudo depende do nariz. Agora tens o nariz amarelo e seco, mas ele deve inchar e ficar vermelho. Logo que isso se dê passarás para lá. A transferência dos tísicos faz-se sempre pelo nariz. Sei isso na ponta da língua. Vai fazer sete anos que aqui estou... já conheço os hábitos.
Aquele enfermeiro era um terrível falador e como, dos nove doentes, só Paulo era capaz de compreender e de ouvir - todos os outros estavam num estado que não os favorecia realmente para o diálogo-, teve de suportar sozinho o fardo daquela sociabilidade. Baixo, ruivo, de
322
ossos salientes, olhos cinzentos imóveis e melancólicos, sentava-se nos momentos livres junto da cama de Paulo e começava:
- Melhoras? Claro, estás a melhorar, bem vejo. Não falta muito para o número cinco. Foi bom teres ficado assim doente. O tifo é uma doença curiosa, é uma doença que purifica. Antes de ter o tifo podia-se ser um crápula, ter a alma cheia de pecados infectos, mas basta ter o tifo, e pronto! Eis-te com a alma pura. Por causa do delírio. Durante o delírio a alma sai do corpo e passa pelos tormentos... E isso serve-lhe de lição. Sim, sim! É certo que muitas pessoas morrem com o tifo. Não tem importância. Isso é indispensável ao homem. Prescrito. Morre-se com o tifo porque o tecido está gasto, usado pela vida até ao fio, e a alma reclama outro tecido. É-lhe necessário outro alojamento, que é a terra. Sim, sim! Perdeste os teus parentes? Não! Ah, eu perdi onze. Até tive um que a terra tomou conta dele ainda vivo. Era canalizador. Estava a colocar uma canalização e pumba, enfiou na terra, e adeus Nicolau. Removeram as terras, mas ele já tinha partido. Claro. A terra cobra sempre o que lhe é devido, será muito esperto quem o evitar. Não se escapa. Mata-te na água e chegarás a terra, lança-te ao fogo e ficarás na terra. Ela cuida dos seus bens. Também me reclamará, não tarda muito. "Anissime, meu caro amigo, para a campa, fazes o favor!" E toca a deitar. Deitar e mais nada. O homem é assim. Agita-te, mexe-te, faz o que quiseres, finge que não estás disposto: ela sopra-te no coração e assunto arrumado. Mais nada. Não sobra nada. Porque o mundo só está vivo enquanto estás vivo...
Acontecia-lhe por vezes falar assim duas horas seguidas. Saber se estava ou não a ser ouvido não o interesssava; prosseguia as suas sombrias meditações, com o olhar imóvel cada vez mais fixo até tomar um estranho reflexo baço que lhe velava as pupilas com uma fina película. A palavra tornava-se-lhe então mais abafada, mais entrecortada, as frases eram cada vez mais curtas, acabava por soltar um profundo suspiro e por se interromper, algumas vezes, no meio de uma palavra; via-se-lhe então luzir no olhar um sentimento de pavor frio.
323
Mas aqueles discursos não exerciam qualquer acção em Paulo. Quase nunca lhes prestava atenção, absorto nos seus próprios pensamentos, iluminados agora pela esperança de qualquer coisa que, sentia-o, esperava no futuro, mas que não conseguia representar muito claramente. Dispunha de poucos materiais para poder construir castelos no ar. Conhecia da vida apenas o que ouvira contar e tinha evitado, cuidadosamente, até ao presente, participar nela ele próprio. Mas agora todo o seu ser compreendia que se aproximava esse grande acontecimento, essa coisa que nunca experimentara e que mudaria toda a sua vida. Pensamentos, no sentido exacto do termo, não os tinha; possuía um vocabulário muito reduzido para poder pensar com ideias claras, mas desde o momento em que tinha recobrado conhecimento e recordava os olhos azuis de Natália, muitas sensações novas se lhe tinham despertado na alma pouco desenvolvida; o relato que o enfermeiro lhe fizera das duas visitas tinha aumentado ainda mais essas sensações.
Até aos vinte anos não tinha usufruído da atenção de ninguém, mas, como homem, não podia passar sem isso, e como homem um tanto excepcional, absolutamente solitário, esperava esse momento com maior avidez que os outros, embora de um modo instintivo, talvez inconscientemente, e, como é óbvio, sem ter a menor ideia do que podia ser essa atenção, a sua origem ou a forma sob a qual se manifestaria. E eis que se manifestara, e ele esperava firmemente que aquilo não fosse tudo o que o esperava, ainda, um mundo de sentimentos novos. Ora a sensação puramente da reconstituição em aumento, dia após dia, das suas forças abaladas, dava-lhe ainda maior capacidade e avivava-lhe o desejo de ver chegar o futuro o mais rapidamente possível.
E um belo dia, quando já tinha sido transferido para o pavilhão número cinco com grande desgosto do enfermeiro
Anissime que perdia, desse modo, o seu único ouvinte e era de opinião que a transferência era prematura- ainda podia morrer, o nariz ainda não tinha enchido -, um belo dia, portanto, em que Paulo estava deitado no catre, seguindo com os olhos as moscas no
324
tecto e mergulhado nos seus sonhos confusos, meios-pensamentos meios-sensações, ouviu a seu lado uma leve exclamação:
- Senhor Paulo!
Era tão inesperado que ele se espantou e se sobressaltou. Também ela estava perturbada.
- bom dia!... Graças a Deus já foi transferido!... Truxe-lhe isto!... - meteu-lhe um embrulho nas mãos, ruborizada, ao mesmo tempo que examinava a sala por baixo de um olhar assustado.
Já o espanto de Paulo tinha sido substituído por uma alegria ardente que lhe cobria as faces com um leve rubor.
- Agradeço-lhe de todo o coração. Agradeço-lhe imenso. Mil vezes obrigado. Estou muito contente por a ver. Muito mesmo!... Sente-se aqui... ou aqui, aqui estará bem... Estou-lhe grato. É muito bom aquilo que faz... Creia-me... - dizia-lhe ele com os olhos brilhantes, transfigurado.
Aquele acolhimento inesperado embaraçou-a ainda mais; lançava constantemente olhares furtivos para um lado e para o outro, como se temesse reconhecer entre os doentes alguém cujo encontro fosse desagradável.
- bom... sento-me. Não fique assim, agitado... Pode fazer-lhe mal... -dizia ela em voz baixa, prosseguindo as suas investigações.
Apesar do seu entusiasmo, Paulo notou a atitude dela.
- Não se preocupe... São todos boas pessoas, doentes... Conversam, são amáveis... Gente muito agradável, simpática. Ah!, como me sinto feliz por a ver... -garantiu, quase num grito.
Ela tinha tido oportunidade de examinar toda a sala; soltou um suspiro e sorriu-lhe com um franco e bom sorriso.
- Também eu me sinto muito contente por ver que está quase restabelecido. Já cá vim antes, mas estava sem dar acordo de si. Não se excite, peço-lhe.
Olhe, veja o que lhe trouxe, o médico autorizou. Coma! - e preparou-se para desfazer o embrulho.
325
Mas Paulo agarrou-a com as mãos trémulas de contentamento, e pôs-se a falar, com um entusiasmo que aquela alegria fazia crescer incessantemente.
- Não sei se me acredita mas você é, para mim, como um anjo do céu, juro-lhe!
- Oh, que está a dizer? - disse ela, novamente perturbada.
- Não, é a pura verdade... Não lhe posso explicar. Não sei. Não sou bom conversador, como sabe. Mas isso não me impede de compreender, deixe-me dizer-lhe... É para mim uma estranha. E eu a mesma coisa para si. E no entanto veio ver-me... E noutro dia, na cave... Que ganhava com isso? Eu sou só no mundo e nunca tive a sombra de uma carícia em toda a minha vida... Esse é o que eu sou... O que fez é extraordinário, para mim, verdadeiramente extraordinário!... - exclamava ele, sacudindo-lhe a mão com vivacidade.
- Acalme-se. Isso pode fazer-lhe mal, tenha cuidado... Se se excita assim, podem proibir-me de cá voltar - dizia ela, tentando apaziguá-lo, sempre um pouco desorientada, sem lhe compreender o discurso descosido mas compreendendo perfeitamente ter sido ela quem tinha feito nascer toda aquela alegria.
- Impedi-la? - exclamou ele, assustado; olhou-a de frente e prosseguiu num tom de protesto: - Não podem fazer isso. Não vê que é minha irmã? Impossível! Quem lhe disse isso? É toda a minha família! São disparates. Tenho o direito!... Vou-me queixar!...
- Meu Deus, como você é! Queixar-se de quê? Eu disse isso a propósito, não é preciso fazer cenas... Que estranho que você é!
Parecia-lhe um pouco cómico no seu êxtase, e não compreendia muito bem por que razão ele se entusiasmava daquele modo; mas era-lhe cada vez mais agradável verificar que era ela própria a causa. Tornou-se mais audaciosa e começou pouco a pouco a manifestar um certo despotismo a que ele se submetia sem protestar e que lhe era doce, como de resto também a ela. Obrigou-o a mastigar uma espécie de ovos, arranjou-lhe as almofadas, interrogou-o pormenorizadamente acerca do que ele
326
sentia, e até, no final, franzindo as sobrancelhas, tomou um tom muito grave e severo. Isso divertia-a e a ele, aqueles cuidados e atenções, faziam-no mergulhar em sensações deliciosas.
Agora tinha-se calado e contentava-se em encará-la com olhos cheios de admiração e de alegria, enquanto ela lhe falava da sua próxima saída do hospital e das visitas que lhe faria, do chá que tomariam, dos passeios que daria
Com ela pelos bosques, de barco, invocando quadros maravilhosos.
As horas de visita passaram sem que eles se apercebessem e ela partiu.
No momento da despedida, Paulo olhou-a com tristeza no semblante e pediu-lhe muito baixinho que voltasse.
Ao ficar só, fechou os olhos e imaginou-a, viva, pequena, roliça, cabelo castanho-claro, um nariz provocante alegremente arrebitado, e grandes olhos azuis acariciadores; era simplesmente bela e fresca. Quando falava cintilavam entre os lábios carnudos pequenos dentes bem feitos, alegres, brilhantes. Um saia e casaco escuro e cabelos bem penteados, em trança, davam-lhe um ar ainda mais simples, mais encantador e meigo. Acima de tudo respirava bondade.
Paulo olhava-a, olhava-a, regenerado; ele próprio se admirava de lhe ter falado tanto, de lhe ter dito à primeira vez o quanto a achava bela e próxima; enterneceu-se e adormeceu profundamente.
Passou o dia seguinte numa espécie de bruma irisada. Imaginava constantemente a cena da véspera e repetia baixinho centenas de vezes: "Obrigado! Obrigado!" exprimindo com esse agradecimento uma longa teoria das mais diversas ideias.
No outro dia era dia de visita e ela poderia vir. Ele imaginava como se passariam as coisas, inventava frases que pronunciaria em seu louvor... E ao mesmo tempo sonhava estar já curado e que passeava com ela, de barco, no rio, falando-lhe de Aréfi...
O "amanhã" chegou e foi com um arrepio febril de todo o corpo que ele fixou, de manhã à noite, a porta da sala, esperando de um momento para o outro vê-la aparecer
327
e ela começaria como da primeira vez a examinar os doentes com ar inquisidor, depois sentar-se-ia junto dele no catre e falariam... Mas o dia passou e ela não veio.
Paulo levou muito tempo a adormecer, nessa noite; esforçava-se por fazer uma ideia clara do que poderia tê-la impedido de vir; mas não conseguiu e adormeceu pela madrugada, com uma violenta dor de cabeça, num estado de pesada apatia.
Todo o dia ficou deitado, silencioso, imóvel, sem pensar em nada, sem imaginar nada, sem esperar coisa nenhuma. Passaram depois numerosos dias de visita sem que ela voltasse.
Paulo ficava deitado e rememorava todo o mal que tinha ouvido dizer das mulheres; pensava nisso e esforçava-se por achar que nada de mal lhe convinha. Imaginava-a suja, ébria, ladra, regateira, odiosa, mas apesar de tudo, ficava, no final, simples, bela e boa.
Qualquer mulher que seguia na direcção do hospital despertava nele arrepios de esperança... Ficava horas a olhar fixamente a extremidade do corredor, esperando vê-la aparecer; mas isso não acontecia e Paulo, desiludido, sentia o coração amargurado.
Mas um belo dia ouviu o enfermeiro chamá-lo:
- Paulo Guibly, à secretaria!
Precipitou-se. O longo e magro funcionário, mexendo com os bigodes pretos, estendeu-lhe um embrulho.
- Tome. Trouxeram-lhe isso.
- E... quem foi? - perguntou Paulo, pegando no embrulho com mãos trémulas.
- Um velhote que disse...
Paulo abanou a cabeça com ar sombrio e estendeu o braço para pousar o embrulho na mesa diante do funcionário.
-... que é o seu patrão. Veio com uma mulher que tinha um penso na cara. Uma rapariga nova.
Paulo sobressaltou-se e voltou a retirar o embrulho.
- O penso, na cara, era muito grande?
O homem ergueu os sobrolhos e os bigodes e pediu-lhe para repetir:
- Um penso muito grande, como?
328
- Não, não queria dizer nada!... Obrigado! Muito obrigado!... Deviam-lhe doer os dentes, decerto.
O outro encolheu os ombros:
- Hum! Pode ser que também tivesse dor de dentes... E então?
- Não disse nada a meu respeito? - perguntou Paulo, baixinho, com voz trémula.
- Ela disse: "Ele é um bocado tolo mas é preciso desculpá-lo". Agora pode-se ir embora. Já o desculpei.
Paulo deu meia volta e retirou-se, compreendendo que estavam a zombar dele. Pareceu-lhe saber a razão porque ela não tinha vindo durante todo aquele tempo; estava com dor de dentes. Mas logo que melhorasse, viria. Ela era portanto boa!...
Oito dias mais tarde estava novamente na secretaria diante do mesmo funcionário, que folheava um livro e fazia estalar esferas do ábaco.
- Recebeu as suas coisas todas?-perguntou ele a Paulo: depois, sem esperar resposta, acrescentou: - bom, pode ir. Até à vista.
Paulo cumprimentou e partiu. Ao fim de meia hora, um pouco tonto com o sol e o movimento, um nevoeiro diante dos olhos e a cabeça com vertigens, entrou na oficina.
- Essa agora!... Já cá estás!... Bravo, meu caro! foi o acolhimento do patrão. - bom dia! Não há dúvida, estás magro como um cão. Mas em troca aprendeste a sorrir.
Efectivamente, Paulo passeava os olhos à sua volta e sorria.
Um sentimento de ternura tinha-se apossado dele ao abrir a porta da oficina, ao deter-se no limiar. Tudo ali lhe era tão familiar e tão próximo! E as velhas paredes cheias de fumo tinham, também elas, o ar de sorrirem com as suas manchas brancas, libertas não se sabe como da camada de poeira negra... A cama dele lá estava: no canto, e por cima dois quadros: "Juízo Final" e "O Caminho da Vida".
Michu, o aprendiz, abriu a grande boca e pousou nele o seu olhar escuro, com uma expressão de contentamento
329
na cara suja de graxa. Também o patrão, segundo as aparências, estava satisfeito com o seu regresso. Miron Savélitch não parava de falar.
- Vá, entra, senta-te, descansa! Deves estar cansado. Aqui, a máquina só roda com os meus braços e os do Michu. O Ganso não chega a cozer as bebedeiras. Meter outro, não me apetece: estava convencido que chegarias, de um momento para o outro, óptimo. Podemos começar a coser, só te digo isto! Eu, meu velho, já não bebo há uma quantidade de tempo!... Quer dizer, eu bebo, claro, mas não vou até ficar inconsciente.
Paulo ouvia e sentia-se cada vez mais à vontade, não só porque o patrão falava tanto e tão alegremente, como também porque nas palavras dele e no seu tom havia qualquer coisa de paternal e de bom que era para o seu coração como um bálsamo.
- Agora, tio Miron, vamo-nos pôr ambos ao trabalho!
- disse ele com segurança quando o patrão se calou e se pôs a ajustar um pedaço de couro para remendar uma bota velha. - Agradeço-lhe muito ter-me ido ver. Foi uma coisa que contou para mim! - disse ele, calorosamente,! acrescentando: - Dado que sou um homem completamente só...
O patrão interrompeu-o com um assobio de espanto..
- Como tu falas, agora! Muito bem, meu caro, também! aí se pode dizer que há males que vêm por bem. Antes da doença serias capaz de rebentar se tivesses de dizer metade. Formidável. Já não era sem tempo. E outra coisa.I meu velho, devias passar por casa daquela Natália. Vai" lá. Apesar de ela ser o que é deves-lhe agradecer. Não imaginas como ela se preocupa contigo. Fantástico! Vinha aqui quase todos os dias perguntar: "Você foi lá? Viu-o?..." Não há dúvida, meu velho, aquela ainda não deixou a alma nas camas que frequenta. Ela tem uma alma, diga-se sem ofensa. Foi uma coisa absolutamente inesperada. Uma rapariga com a conduta dela, assim, de repente. A última vez bebemos ambos um copo à tua saúde e não fazes ideia das coisas que me contou!... Espantoso! Nunca tinha ouvido nada semelhante desde que nasci. "Como é que as pessoas nos tratam a nós? -
330
disse-me ela. - Como umas porcas, como umas cadelas. É ou não é verdade?" E eu disse-lhe: "É verdade." E ela então: "Mas ele, quando lá fui, tratou-me como uma irmã. Estás a perceber, tio Miron?" "Claro que estou a perceber" respondi eu. E ela: "Bem. Então é preciso que eu lhe pague na mesma moeda." Estás a ver? É uma coisa simples, hem! Uma história maravilhosa que não se parece nada com o que se passa na vida... na realidade... naquilo que nós todos...
Mas o velho patrão não prosseguiu, impedido por um obstáculo invisível para Paulo que ouvia tudo aquilo com uma expressão de atenção concentrada e de alegria muda no rosto bexigoso. Ficou ainda um bom bocado de tempo a contemplar a boca do patrão depois que este, convencido definitivamente da impossibilidade de formular o que pensava, se tinha calado com um gesto expressivo de impotência.
Paulo também se calava; mas sentindo que lhe era necessário explicar, de uma maneira ou de outra, pelo menos uma certa parte dos sentimentos que lhe enchiam tão agradavelmente o peito e lhe enevoavam a cabeça, e à falta de melhores palavras, começou os seus agradecimentos.
- Fico-lhe muito reconhecido, patrão, pelas suas palavras! Reconhecido! - e abria os braços, incapaz de exprimir por palavras toda a extensão do seu reconhecimento.
- O patrão disse muito bem. Antes, eu julgava ser um lobo... Mas agora vejo bem que sou um homem. E até há quem me preste atenção... Muitíssimo obrigado!-e arfava sob o afluxo
do desejo de falar e de se exprimir.
- Deixa lá, meu velho, isso não é nada. Posso admitir facilmente que antes da tua doença não eras dos mais espertos. Eras um homem pouco cómodo, tens razão, um homem difícil. Mas a verdade é que eu próprio não te sei dizer qual é a melhor maneira de passar na vida: se ao lado das pessoas ou no meio delas. As pessoas, no seu conjunto, são raramente companhia agradável. Quanto a caminhar no meio delas, podes fazê-lo, mas tens de manter a boca calada e apertar os punhos em caso de necessidade. Não vale a pena zangars-te se
te vigarizam. Todos
331
querem viver e nesta terra estamos muito apertados: é impossível não nos chocarmos contra o vizinho. Mas não nos devemos deixar pisar. Mais vale comer os outros do que permitir que eles nos mordam. E sobretudodesconfia das mulheres. Essas víboras picam sem que dês por ela. Sorriem-te e zás! Abraçam-te e pumba! Adulam-te e já estás no papo: já estás a trabalhar para elas, a tua alma já se lamenta, reclama a liberdade, mas nada a fazer, meu menino. Essas gatinhas têm umas garras que não largam a presa. Elas te farão morrer cinco vezes antes que morras de verdade!... !
Miron estava inspirado e filosofou até à noite, sem parar de trabalhar.
Paulo estava sentado à frente dele e ouvia-o atentamente, usando também com destreza os instrumentos do ofício. Mas a atenção prestada aos discursos do patrão não o impedia de manter um
pensamento tenaz que lhe trotava na cabeça.
- Basta! - disse Miron parando de filosofar e de trabalhar. - Deita-te, meu velho. Descansa. Ou então vai até à rua dar uma volta.
- Não, vou então a casa dela - disse timidamente) Paulo, com os olhos baixos.
- A casa da Natália, queres tu dizer! Hum! Vai, vai lá!
- disse o patrão, pensativo. Mas quando Paulo saía da oficina,, advertiu-o:
..- Põe-te a pau, se não ainda acabas casado! Hé-hé!... Pode muito bem acontecer, sem teres tempo de dar por isso. Elas sabem da poda, meu velho.
Aquelas palavras tiveram um efeito desagradável: Paulo conhece-a. Ela não se parece com as outras. Ele já tentou denegri-la, mas nenhum mal se lhe aplicava. Ela é simplesmente boa e nada mais.
Absorto nesses protestos mentais, nem reparou que já subira as escadas e se encontrava na mansarda, diante de uma porta mal fechada. Sentia-se acanhado, e não teve coragem para entrar sem tossir previamente. Mas a tosse, apesar de ruidosa, não despertou, atrás da porta, qualquer sinal de vida.
332
"Deve estar a dormir" pensou. Mas deixou-se ficar ali, de pé, com as mãos atrás das costas, esperando secretamente que ela despertaria dentro de um momento.
Da rua chegava até ele um ruído abafado. O telhado, aquecido pelo sol, tornava o ar irrespirável e enchia-o de um odor de terra quente e de qualquer outra coisa que picava no nariz.
Subitamente a porta abriu-se devagar. Ele afastou-se, tirando respeitosamente o boné, fez uma profunda saudação e esperou, sem levantar a cabeça, que ela dissesse alguma coisa. Mas a voz não vinha. Então olhou e ficou estupefacto. Diante dele não estava ninguém e o quarto também estava vazio. Certamente a porta abrira por efeito de qualquer corrente de ar, uma vez que a janela também estava aberta.
Olhou para o quarto. Tudo estava em desordem, fora dos lugares, e a cama, encostada à parede, estava por fazer; em cima da mesa havia pratos sujos, com restos de comida e pontas de cigarros, duas garrafas de cerveja, um samovar, chávenas; no chão estava uma saia vermelha, um sapato e um ramo de flores de papel amachucadas...
Ao ver aquilo tudo apoderou-se de Paulo uma estranha tristeza e teve vontade de se ir embora mas, cedendo a um impulso interior, franqueou o limiar e entrou no quarto. Era uma pequena mansarda, com o tecto em forma de tampa, forrada com feios papéis azulados e descolados em vários sítios; tudo isso, ligado à desordem geral do quarto, dava-lhe o aspecto estranho de ter sido virado de cima para baixo. Paulo soltou um profundo suspiro, aproximou-se da janela e sentou-se numa cadeira.
"O melhor é ir-me embora" pensou, mas sem sentir qualquer vontade de o fazer. "Mas como posso ir-me? Ela não está em casa, a porta está aberta, está tudo em desordem... Não deve andar longe..."
Olhou pela janela como se esperasse vê-la. Tinha-se dali uma curiosa vista sobre a cidade, da qual, a falar propriamente, nada se via, a não ser telhados e, entre eles, alguns jardins como ilhas de verdura.
Os telhados verdes, vermelhos e escuros, ligados uns aos outros, pareciam ter sido espalhados ao acaso. Aqui
333
e ali subia para o céu um campanário pontiagudo, coroado por uma cruz ainda iluminada pela luz frágil do crepúsculo que, lá no fundo, na periferia, avançava com a sua névoa: ela flutuava, leve, acima dos telhados, tornando os contornos mais suaves e mais escuros... As manchas verdes dos jardins confundiam-se com as casas, e Paulo, observando o modo como anoite nascia e aumentava, envolvendo de sombras a terra, sentia uma amargura que não feria profundamente... Ao longe, para lá da cidade, onde o céu era mais negro, já cintilavam duas estrelas: uma, grande e avermelhada, tinha um brilho alegre e expansivo, ao passo que a outra, que acabava precisamente de aparecer, tremia, escondia-se e depois reaparecia.
Como seria bom ser um homem capaz de compreender tudo isso, a noite, o céu, as estrelas, a cidade que adormecia e os próprios pensamentos, a alma que ali está escondida; um homem cuja vida fosse ao nível de uma tal compreensão, que soubesse para que serve, qual o seu lugar no meio disso tudo. Talvez então esse homem pudesse tornar a vida tão suave e tão agradável como o é essa noite que cai, e aproximar os homens de modo que cada um se veja espelhado nos outros e nada tema deles...
Arrastado por esses pensamentos, Paulo mantinha-se sentado à janela sem prestar atenção ao tempo que afinal passava, rapidamente, diante de si. Só compreendeu que já estava ali há muito tempo quando ouviu um grito no pátio e, ao olhar para baixo, percebeu que já era noite fechada e que todo o céu resplandecia, cheio de estrelas. Tinha vontade de dormir; soltou um suspiro e dirigiu-se para a porta; mas quando estava prestes a sair ouviu passos pesados e irregulares na escada e deteve-se.
Um vulto subia os degraus com dificuldade, soluçando de um modo estranho: dir-se-ia que chorava. Paulo afastou-se e escondeu-se atrás da porta.
- Malditos!... - murmurou com voz avinhada a pessoa que subia para casa de Natália.
Paulo estava a pensar que era alguém que ia a casa dela e ficou muito surpreendido quando verificou que era
334
ela própria. Sentiu o cheiro a vodka e quando passou junto dele viu que estava toda despenteada, com as roupas em desordem, e caminhando com dificuldade. Teve pena dela mas não teve coragem para sair do seu esconderijo, e ir em seu socorro; deixou-se ficar atrás da porta, que ela empurrou com o ombro, entalando-o. Paulo sentiu imediatamente um ruído de copos e o choque de garrafas a caírem.
- Que vão todos para o inferno! - pronunciou uma voz avinhada, onde vibravam distintamente a ofensa e a cólera.
Ele ficou imóvel e, retendo a respiração, ouvia, embora aquilo lhe fosse penoso e desagradável.
De repente rebentaram choros e gritos de protesto:
- Encheu-me de pancadas, aquele desgraçado!... Por que é que ele me bateu?... Eu podia reclamar o meu dinheiro... Podia... É um ladrão... é o que ele é!... Lá por eu ser uma assim... julga que pode!... Mente... É mentira... não me pode bater!... Sou um ser humano!... Sou o que sou... mas tenho o direito... todo o direito... de reclamar os meus três rublos!...
Lançou aqueles "três rublos" com uma voz tão aguda e tão forte, com tanta cólera e tristeza que Paulo sentiu como que um soco no estômago e saiu para a escada, cheio também de amarga tristeza e de cólera contra alguém. Ao descer o último degrau ouviu lá em cima um ruído de queda e de louça partida.
"Deve ter virado a mesa... É uma coisa..." pensou ele, em voz alta, quando já estava no pátio. Não sabia o que fazer, mas sentia que era preciso fazer qualquer coisa. De pé, no meio do pátio, com o boné na mão, ouvia o coração pulsar precipitadamente e um peso ignóbil esmagava-lhe o peito. Havia um caos na cabeça dele e nem uma única ideia clara.
"Canalhas!", murmurou, repetindo todos os palavrões que nunca dissera, mas que conhecia de tanto os ouvir, com um tom de ódio. Depois, quando aliviou um
pouco o coração, sentou-se num banco com as costas apoiadas na parede.
335
Julgava ver constantemente na rua sombria e deserta vultos de mulheres embriagadas, deambulando, cambaleantes, resmungando encolerizadas... A angústia apossava-se-lhe do coração, comprimindo-o cada vez mais. Levantou-se e foi para a oficina.
- E então, Paulo, como vai a tua vida? - perguntou-lhe
o patrão, de manhã, encarando-o com um sorriso. Foste lá, agradeceste-lhe?... Hem?
- Ela não... não estava em casa - respondeu Paulo com pouca vontade de falar e evitando o olhar do patrão.
- Não? Parece impossível! Bem, admitamos. Admitamos que é como tu dizes.
Sentou-se em frente dele a trabalhar. Pouco depois prosseguiu
- Demora-se muito na boémia, a rapariguinha!... E é pena!... Ela tem bom coração; é isso, mete pena. É tudo o que podemos fazer, lamentá-la! Não se pode fazer mais nada.
Paulo mantinha-se silencioso, passando nervosamente o linhol através do couro. O patrão pôs-se a assobiar baixinho. Após um longo silêncio, Paulo chamou:
- Tio Miron!
- Que é? - indagou o patrão, levantando a cabeça.
- Não há realmente maneira de ela abandonar aquela vida?
- Ela? Hum! É de supor que não, uma coisa dessas é muito difícil. Há coisas em que não se consegue ver claro. É como o casaco de um limpa-chaminés, meu velho! Se aparecesse um sujeito assim, sabes, vigoroso como o ferro, e lhe apertasse os parafusos seriamente, então talvez se pudesse discutir quem ganharia. Simplesmente agora já não há esse género de imbecis. E raparigas para casar há-as por toda a parte, são como as moscas no Verão. Mesmo uma verdadeira rapariga, virgem e graciosa, não tem cotação muito alta. Olha, por exemplo, o Ganso, casou-se, apanhou um dote de duzentos rublos e a rapariga ainda por cima tem um aspecto de querubim e é instruída. Claro, ela é que o vai governar, porque quem é ele? Está perto dos cinquenta anos e ela tem dezassete. E mesmo assim casou com o Ganso, estás a ver, e ainda
336
lhe deram duzentos rublos para que a levasse. Raparigas para casar são às pàzadas, nos nossos dias. Não valem grande coisa. E tudo isso, porquê? Porque vivemos apertados, meu velho, e nasce gente de uma maneira maluca. Devia-se proibir as pessoas de se casar, durante pelo menos cinco anos. Isso sim, que seria hábil. É uma bela ideia, hem?
Seduzido por ela, o velho Miron pôs-se a desenvolver a sua ideia, pormenorizadamente. Paulo calava-se e poder-se-ia supor que ele ouvia com atenção. Mas de repente, no momento em que Miron acabava de dominar com especial felicidade uma dificuldade encontrada no seu projecto de diminuir artificialmente a população, Paulo perguntou:
- E se eu lhe desse um presente, tio Miron?
- Um presente a quem? A ela, à Natália? - perguntou o patrão após um silêncio prolongado, com os olhos no tecto, um pouco vexado por Paulo lhe ter interrompido os voos fantasistas. - Bem, apesar de tudo, um presente é uma coisa que podes fazer. Dado que ela se preocupou contigo.
Calou-se, e, um momento depois, começou a cantarolar.
Depois do almoço voltaram a ficar frente a frente, trabalhando o couro com aplicação. A tarde estava quente e na oficina, apesar das janelas e a porta estarem abertas, abafava-se. O patrão enxugava constantemente o suor da testa, praguejava contra o calor e fazia a comparação com o inferno onde a temperatura devia ser de uns bons dez graus mais baixa e para onde ele se trasladaria de boa vontade se não tivesse prometido acabar na data marcada aquelas malditas botas.
Paulo estava sentado, com a fronte enrugada, e cosia sem levantar a espinha.
- Então, acha que apesar de tudo ela é boa rapariga?
- Não te sai da ideia, ha! Parece-me que sim, que é boa rapariga. E então?
O patrão olhou-o com curiosidade, examinando-lhe atentamente a cabeça inclinada. Mas Paulo respondeu calmamente:
- Então, nada!
337
- Bem, bem, não estás muito falador! - comentou o patrão com um sorriso.
- Que quer que eu diga?
Sentia-se-lhe na voz uma mistura de perplexidade, de desgosto e de melancolia.
Ficaram novamente calados.
- Ela está perdida, então?
Era uma pergunta tímida, mas Miron não lhe deu qualquer resposta. Paulo esperou um momento e de repente declarou num tom de protesto:
- Não é justo. Por que é que ela está perdida, sendo boa? Não é uma coisa estúpida?
Deu um pontapé na mesa, para sublinhar o seu desacordo. O patrão soltou um assobio zombeteiro e teve um risinho sarcástico.
- Meu inocentinho! És um peixinho miúdo e sinto que vais morder o anzol. He!... hé!... hé!...
À noite, depois do trabalho, Paulo saiu para a entrada da oficina e, na moldura da porta, pôs-se a examinar a janela da mansarda. A luz já estava acesa, mas não se sentia qualquer movimento. Durante um bom bocado aguardou que o vulto dela se deixasse ver através da janela; mas a sua expectativa foi iludida e, cansado de esperar, saiu para a rua e foi-se sentar no mesmo banco em que tinha estado sentado na noite anterior.
Tinha permanentemente no espírito o que o patrão dissera de Natália e estava cheio de um melancólico sentimento de compaixão pela rapariga. Se conhecesse melhor a vida, e soubesse raciocinar, teria podido elaborar vários planos para a salvar, mas não sabia nem podia quase nada, e todos os pensamentos o levavam a imaginá-la na cadeia, no hospital, ou embriagada, lá em cima, naquela miserável mansarda. Deslocava-a de um sítio para outro, pegava nela bêbeda na mansarda e levava-a para o hospital, para junto do catre que ele ocupara: resultava disso uma cena demente e absurda que lhe avinagrava ainda mais a disposição; mas quando, ao contrário disso, ele a imaginava na mansarda, igual ao que tinha sido no hospital, junto dele, sentia-se aliviado e era com um sorriso que olhava à sua volta, passeando os olhos pelas sombras
338
da rua e pelo céu resplandecente de estrelas douradas. Era como se duas correntes se chocassem nele: uma quente, viva, outra fria, triste, que o envolvia em pesadas trevas. Tinha pensado tanto em Natália, no hospital, tinha-se aproximado tanto dela, em sonhos! Ela era o primeiro ser humano que o tinha amimado um pouco, que se preocupara com a sua sorte; e a sua vida, vazia e solitária, a sua vida sem ponto de apoio, sem amigos, tinha-se repentinamente concentrado, na sua totalidade, à volta daquela rapariga que tinha sido tão amável para ele e que se ia perder.
Recordou os sentimentos que o agitavam quando ela
estava sentada ao lado da cama dele, e gostaria que esses
sentimentos, já diluídos pelo tempo, lhe revivessem no
coração com a mesma força. E então ouviu a exclamação:
- Ah!... É você? Já saiu?
Voltando-se com vivacidade, viu aquela que lhe ocupava todos os pensamentos, de pé, no portão, quase a seu lado. A cabeça e o rosto estavam envoltos num xaile cinzento sob o qual se viam brilhar os grandes olhos azuis.
- Saí ontem. Boa noite! - respondeu ele.
Sem saber o que dizer, além daquilo, pôs-se a encará-la em silêncio.
- Oh! Meu Deus! Emagreceu tanto! - disse ela num tom arrastado, cheio de compaixão, e arranjando o xaile com a mão de modo a tapar a cara ainda mais.
- Ouvi dizer que também tinha estado doente - perguntou Paulo.
- Eu? Não... quer dizer, estive e ainda agora não me sinto lá muito bem. São os dentes... Já há muito tempo.
Paulo recordou-se que lá em cima, na mansarda, quando a vira passar diante dele, a cara não estava tapada.
- E agora, já está bom? Curado? Já está a trabalhar, não? - perguntou ela após um silêncio.
- Já recomecei ontem.
- Bem. até depois! - disse ela, estendendo a mão. Paulo pegou nela, apertou-a com força, e, sentindo que
339
ela o ia deixar imediatamente, pôs-se a falar muito depressa.
- Espere um bocado. Peço-lhe
por favor. Sente-se aí... Quero-lhe agradecer como deve ser. Devo-lhe todos os agradecimentos, pelos cuidados que teve comigo...
- Pare com isso, peço-lhe.
O que fiz não tem importância. Venha um dia tomar o chá comigo quando... De dia, depois do almoço, se lhe apetecer, porque à noite não estou em casa. Venha, quando quiser, ha!
- Irei. Claro que irei. com muito gosto! E agradeço-lhe.
- bom, espero-o. Agora vou ao merceeiro. Adeus! Desapareceu, a correr. Paulo esperou que ela voltasse,
desejando, sem ter consciência disso, que ao passar ela o convidasse outra vez, e para subir imediatamente. Mas ela passou a correr, sem o olhar, e a ele pareceu-lhe que escondia uma garrafa sob- o xaile.
Suspirou, ficou ali sentado ainda algum tempo. Depois foi-se embora com o coração cheio dela, cheio também de uma tristeza que só lhe permitiu adormecer já tarde.
Dois dias depois subiu a casa dela, levando na mão um embrulhinho onde havia um lenço de cabeça que lhe tinha custado um rublo e meio. A porta estava aberta e quando ela o apercebeu precipitou-se para um canto, pegou num xaile e envolveu rapidamente a cabeça.
- Ah... É você? Calhou bem, estava precisamente a preparar o chá. Entre, entre! bom dia!
Ele entregou-lhe o presente, enfiando-lho nas mãos silenciosamente, e depois murmurou baixinho:
- É para si... para lhe agradecer...
- O que é? Por quê? Um lenço!... E que lenço maravilhoso!... Como você é amável! - disse ela sublinhando a última palavra.
Fez um movimento para ele, com os braços estendidos, como se o quisesse abraçar, mas reteve-se e recomeçou a admirar o lenço.
Paulo notava o agrado causado pelo seu presente, e estava radiante, vendo o modo como brilhavam os olhos dela sob o xaile que lhe envolvia a cabeça, como ontem, ao examinar o lenço por todos os lados; subitamente,
340
cedendo a um impulso de garridice feminina, tirou o xaile, voltou as costas a Paulo e colocou na cabeça o lenço, em frente de um pequeno espelho pendurado na parede.
- Oh! - exclamou Paulo.
Ela tinha sob os olhos duas grandes equimoses violáceas e o lábio inferior, decerto muito ferido, estava inchado. Ao ouvir a exclamação de Paulo, retraíu-se, mas, vendo que era tarde demais, deixou-se cair numa cadeira, cobrindo as faces com as mãos brancas e papudas, e torceu o corpo de uma maneira estranha.
- Ah! Esses filhos da mãe! Como a deixaram! Paulo não conseguiu reter aquela exclamação. Seguiu-se um silêncio pesado. Paulo estava de pé e
lançava à sua volta olhares perdidos, privado do uso da língua e de toda a possibilidade de reflectir, cheio de um pesado sentimento de indignação e de tristeza que lhe transformava o rosto, que embora marcado pelas bexigas era pensativo e inteligente, numa máscara pintalgada de vermelho e de amarelo, terrivelmente dolorosa.
Na mesa, o samovar fervia; fios de vapor escapavam-se, ondulavam, fundiam-se nos ares sem deixar rastro e ouvia-se um som bizarro, como se um animalzinho
maldoso assobiasse com uma alegria cómica e fria.
O quarto estava arrumado e não tinha já aquele ar de desordem anterior; mas era pobre, tão pobre que não podia ser belo apesar de todos os esforços da locatária que escondia os rasgões do papel sob feias gravuras de cores vivas e tinha ornamentado o peitoril carcomido da janela com três vasos de flores. O tecto-tampa-de-caixão era de
Uma
forma deprimente; tinha-se a sensação de que ele ia cair em cima das cabeças de um momento para o outro e que o quarto ficaria escuro como um túmulo.
Paulo olhava a sua amiga; via-lhe os ombros a tremer suavemente e o peito arfar pesada e violentamente, mas não conseguia compreender a razão.
- O melhor é eu... eu ir-me embora. Até depois! disse ele, suspirando, mas sem se mexer.
Foi até junto dela e ergueu-a. De repente ela deixou de esconder o rosto, saltou da cadeira e abraçou-lhe
o pescoço.
341
- Não, peço-lhe por favor,
deixe-se ficar... agora já não tem importância... já me viu... - Passou a mão pela cara. - Eu não lhe queria mostrar esta vergonha... Não faz ideia como me custa isto! Você é tão bom, tão amável, não... não exige nada... não zomba como os outros... os outros todos... Ontem, quando o vi, senti-me tão feliz!... Pensei: ah!, que bom, ele curou-se!... E queria-o convidar a vir a minha casa, imediatamente, mas tive vergonha. Como é que ele vai ver a minha cara assim? Vai-se embora, vai fazer pouco de mim... E por isso não o convidei... Mas tu... mas você contentou-se em me lamentar... Outro qualquer teria zombado, e você, não... Você é amável!... Por que é que é tão amável?
Espantado com aquela explosão de vergonha, de desgosto e de alegria, Paulo pôs-se a gaguejar baixinho, em pé, diante dela, com os olhos baixos:
- Não... eu, sabe... eu não sou muito... Quero dizer, não sei falar, sou mau conversador. Não posso explicar-lhe.. Olhe, tenho muita pena de si, uma pena enorme... é como se você fosse da minha família, mas não lhe sei dizer... Nem sequer sou capaz de arranjar palavras para isso. Em toda a minha vida... ninguém... nunca ouvi as palavras que precisava dizer agora...
- Que amor! As suas palavras conseguem ser tão doces, e pensa que não é capaz. Bem, não vamos ficar aqui, de pé. Sente-se aqui, a meu lado. Vamos beber o chá. Espere, vou fechar a porta, podia aparecer por aí um palerma qualquer. Que vão todos para o diabo que os carregue. Que o inferno os engula para sempre. Ah, se soubesse que patifes há entre os homens!... Meu Deus, dão vontade de vomitar, são infectos, miseráveis...
Estava exaltada e não poupava os "vocês, homens", nem os "nós, mulheres". Revelou um grande talento de crítica e de publicista, um estilo ardente, rico em imagens, um pouco violento, é certo, mas isso só reforçava a impressão causada. Lançava as suas teses como pedras, ordenava-as em deduções, e, embora estas fossem um pouco paradoxais, eram de peso, de um peso que esmagava.
Diante de Paulo desenrolava-se em cores vivas essa vida de que ele não tinha, por assim dizer, a menor ideia,
342
e era uma vida tão amaldiçoada, tão horrorosa, tão dolorosamente absurda que o inundavam suores frios de horror por ela e por aquela que a descrevia.
Quanto à narradora, ela era verdadeiramente terrível na sua exaltação. As pisaduras que lhe rodeavam os olhos davam-lhes uma terrível profundidade, e eles cintilavam de alegria selvagem e de cólera vingadora. Aqueles olhos comiam-lhe todo o rosto, só eles se viam: somente o lábio inferior, inchado, deixando à mostra minúsculos dentes pontiagudos destruía a ilusão. Ela falava de si própria com uma tristeza fria e com ironia, e dos outros com transportes vingadores se eram de "vocês, homens" e se lhes acontecia qualquer infelicidade, e com um desgosto raivoso se tinham obtido qualquer sucesso. Às vezes ria, outras vezes chorava, às vezes misturava o riso com as lágrimas, numa única nota melancólica. E por fim, quando, esgotada e rouca, se calou, ela própria ficou assustada com o efeito do seu discurso.
Paulo tinha perdido o aspecto humano. Olhava-a com olhos terrivelmente enrugados e rangia os dentes com ar feroz, os maxilares tão apertados que as maçãs do rosto ficavam extremamente salientes e todo o rosto se parecia com o focinho de um lobo esfomeado. Inclinado para ela, no momento em que terminara, com as suas queixas e ela já só pensava na maneira de o fazer sair do estado em que o via. Mas ele saiu por si mesmo.
- Bem! Bem! - exclamou ele com voz abafada. E eu que não sabia nada.
Disse aquilo num tom que parecia insinuar: "Agora que sei tudo, isso deverá cessar". Mas prosseguiu:
- Meu Deus! O mundo é então assim? Como é possível?
Pousou os cotovelos na mesa e com a cabeça apoiada nos braços dobrados, mergulhou de novo no seu torpor.
Ela recomeçou a falar, num tom mais suave e conciliador. Encontrou desculpas e justificações para as pessoas e para ela própria, esforçou-se por atirar toda a responsabilidade e o peso dos acontecimentos para o vodka, força que quebrava tudo, mas quando o conseguiu pareceu-lhe que o vodka era uma base demasiado líquida
343
para poder suportar toda a vilania da existência e atirou-se novamente aos homens; depois de lhes ter prestado a "homenagem" que mereciam, passou para a vida:
- É que realmente é duro viver. Só há fossos, por toda a parte: evita-se um, enterramo-nos em outro. A solução é pôr uma venda nos olhos e andar para a frente... Seja o que Deus quiser! Onde está o bom caminho, o caminho fácil?... Quem o conhece?... A nossa vida é penosa e miserável, mas as mães de família também não a levam folgada. Só os garotos! É preciso criá-los, e o marido, e as panelas, e a dispensa vazia!... Ah, a vida é muito mal feita!
Paulo ouvia e imaginava a vida como uma série de precipícios entre os quais havia apenas um caminho estreito a percorrer de olhos vendados; e os precipícios abertos, negros e sarcásticos, enchiam a atmosfera de um odor fétido, pútrido, que provocava vertigens ao solitário e frágil ser humano; -ei-lo que tomba.
Quanto à conferencista, ela estava agora com uma disposição melancólico-filosófica e falava de algo estranho: dos túmulos, dos covais, as cruzes emergindo da neve, da humidade do solo, da escassez de lugar...
Paulo sentiu que estava prestes a rebentar em soluços e decidiu imediatamente que era a ocasião de partir.
- Vou-me embora! Até depois!
Saiu sem que ela o retivesse; disse-lhe apenas, à guisa de adeus um terno "Volte quando quiser" a que ele respondeu com aceno de cabeça, afirmativo.
Saiu para a rua e passeou durante muito tempo pela cidade; sentia-se bizarramente crescido durante essa noite, curiosamente alto e pesado; isso devia-se, certamente, ao facto de estar cheio de pensamentos, de noções e de sentimentos novos. Tudo o que o cercava, toda a cidade, lhe pareciam novos, pareciam-lhe merecera suspeita e a desconfiança e uma espécie de piedade, de desprezo triste... Também isso, sem dúvida, porque Paulo aprendera nesse dia numerosos e hediondos mistérios e traficâncias que aconteciam naquela cidade.
Regressou de madrugada, depois de ter caminhado toda a noite, e sentia-se outra vez ligeiramente doente.
344
Passou uma semana, durante a qual o meu herói visitou sete vezes a minha heroína.
Ambos tinham grande prazer em conversar sobre a vida em geral e sobre a deles em particular. Paulo realizava o desejo que tinha nascido nele no tempo em que estava no hospital e lhe falara do taciturno Aréfi, dos pensamentos que o povoavam quando era rapazinho e se deitava na fossa do jardim, perto da estufa, e quando, já grande, passeava pelo cemitério, pela cidade e pelas aldeias vizinhas... Todas aquelas meditações eram estranhamente marcadas pelo selo da perplexidade e da desconfiança acerca de si próprio, mas a sua conclusão geral era de que havia alguma coisa que não corria bem na vida, que estava estragada, avariada, e que exigia uma séria reflexão.
Natália já lhe relatara a sua vida, muito simples. Aos dezasseis anos, num momento em que era criada em casa de um comerciante, teve uma inesperada infelicidade que lhe valeu ser despedida pelo patrão e posta fora pelos pais, os burgueses Ksivtsov. E como acontece sempre que alguém é despedido e não tem para onde ir, encontrou-se na rua... Veio uma benfeitora, depois um benfeitor, a seguir outro, e outro, e outro ainda, às dezenas! Tinha sido assim, havia oito anos e até agora, e ela confessou-o a Paulo com um suspiro. Mas ele já o sabia e a notícia não o perturbou para além da tristeza.
Estabeleceram-se entre ambos relações simples e amigáveis e acontecia muitas vezes que ela lhe falasse como teria falado a uma mulher e ele a interrogasse como o teria feito a um homem. As nódoas negras desapareciam lentamente e o rosto começava a retomar o tom natural, saudável e fresco. Ela tinha uma óptima saúde, e a cor acinzentada que é distintiva da profissão ainda não lhe aflorara as faces. Gostava de cantar e cantava a Paulo frequentemente canções ineptas mas tristes onde se falava sempre de amor. Mas a palavra amor não despertava nela, aparentemente, nenhuma ideia nem qualquer sensação agradável e pronunciava-a com mais indiferença e frieza do que o teria feito uma velha de setenta anos,
345
em quem essa palavra poderia pelo menos suscitar recordações e fazê-la suspirar pelo passado.
Paulo, simplesmente, agradava-lhe muito o que era natural. Era o primeiro homem que não se comportava, e não poderia mesmo saber comportar-se, com ela, do mesmo modo que todos aqueles que o tinham precedido. Ela compreendia que as intenções dele eram muito puras, e isso elevava-a um pouco, tornava-a melhor, não a obrigava a uma insolente desenvoltura nem ao cinismo que ainda não lhe penetrara a carne e o sangue. Ao mesmo tempo, com ele, podia-se falar de tudo e com a maior simplicidade; embora ele falasse pouco, escutava sempre atentamente.
Tinha-se, de resto, tornado agora mais expansivo e falava mais do que antes, o que igualmente se explica porque ela se esforçava por o compreender, por penetrar, no coração e nos pensamentos dele - ele era-lhe querido e necessário. A atitude dele em relação a Natália não excluía uma espécie de espanto. Ela parecia-lhe excepcionalmente boa, gentil, amável, e ao mesmo tempo pertencia a uma espécie de pessoas a respeito das quais nunca ouvira dizer uma única palavra de bem...
A recordação de Aréfi estava profundamente ancorada nele; e agora fazia muitas vezes a comparação, perguntando quem era o melhor. Não ousava responder a si próprio, como se temesse ofender a memória do defunto com uma resposta que o não favoreceria. Era-lhe inefàvelmente doce, à tarde, após o trabalho, subir a casa dela com toda a liberdade e simplicidade e ali ficar, a beber chá e a falar naturalmente de tudo o que acorria ao espírito.
Ela tinha instrução e gostava muito de ler histórias sentimentais, impressas em papel ordinário, cinzento, que se vendiam aos pares por cinco copeques. Tinha um love daquela literatura numa mala debaixo da cama e lia de vez em quando uma, a Paulo, de uma maneira bastante viva; ao acabar persuadia-o a gostar de ler, o que ele prometia sempre.
Paulo sentia-se bem e até tinha aprendido a rir, o que, resto, não lhe ia muito bem. O tio Miron examinava-o
346
com uma ironia amável, por vezes gargalhava com maldade, mas Paulo não lhe queria mal. O patrão agradava-lhe
cada vez mais, prestava cada vez maior atenção aos seus assuntos e Paulo pagava-lhe trabalhando a dobrar. Um belo dia o patrão disse-lhe:
- E então, Paulo, não me levas um dia contigo, de visita?
Paulo, sem perceber porquê, regozijou-se com aquela proposta e, à tarde, estiveram três a beber o chá na mansarda de Natália. O velho contemplava os dois jovens atentamente, deixando-lhes o cuidado de conversarem e contentando-se em colocar, de vez em quando, dois ou três gracejos no diálogo deles.
Passaram momentos alegres e agradáveis. Mas ao voltar a casa com Paulo, o velho Miron que inicialmente se limitara a assobiar entre dentes, declarou pondo-lhe a mão no ombro:
- Tu tens piada, meu velho! E ela também... que rapariga!... Meus filhos, tratem apenas de não queimar os dedos, que é uma coisa que acontece às vezes quando se brinca com lume. Quanto ao resto, estejam à vontade.
Paulo não percebeu nada daquelas palavras, mas, sentindo que elas tinham origem num bom movimento, agradeceu ao patrão.
Um dia, os meus heróis estavam sentados e bebiam, como habitualmente, o chá, de que ambos eram gulosos, enquanto enumeravam os gostos de cada um. Paulo, tendo já passado em revista os seus, calava-se e ouvia o inventário de Natália.
A lista era longa: o carroce!, o conhaque (preferia-o com limonada e água mineral), o circo, a música, o canto, os livros, o Outono (porque é triste), as crianças (enquanto não aprenderam a fazer cenas), os raviolis, etc. - e finalmente deteve-se nos passeios de barco.
- Aprecio-os mais do que qualquer outra coisa. Avança-se e vamos a balouçar como se fôssemos bebés, não se compreende nada, não se pensa em nada, desliza-se sobre a água, desliza-se... eu flutuaria assim, interminavelmente, até ao mar, toda a minha vida!... É tão bom!... Ah! Passear de barco!
347
Decidiram que o iriam fazer no domingo. Por sorte nesse dia estava um tempo muito belo, luminoso, quente, um tempo de Julho. Escolheram um barco leve e estável. Paulo colocou-se aos remos e partiram contra a corrente. De um lado uma margem argilosa, abrupta e em fragmentação que atirava para o rio uma larga fita marron, do outro uma franja verde de arbustos, no meio dos quais
se erguiam aqui e além altas bétulas magníficas, apontadas para o céu, faias prateadas e carvalhos, despenteados pelo vento que lhes tinha torcido os ramos. Na esteira do barco movia-se, murmurante e ondulante, um leque de espuma que morria antes de atingir as margens, facto que devia vexá-lo horrivelmente porque no ruído que fazia ao desaparecer ao longe havia uma espécie de descontentamento... O céu puro e profundo contemplava-se no espelho da água, assim como os arbustos que cresciam junto da margem; na superfície líquida aparecia ao contrário, de ramos para baixo e troncos para o ar, e isso devia-lhes ser muito agradável: balouçavam-se com tal beleza despreocupada e graça! Intrépidos e rápidos, os gaivões sobrevoavam a onda, tagarelando com ar assustado, as alvéolas passeavam pela margem agitando a negra cauda, cómicas, semelhantes a pequenas pegas. Por cima do rio passavam sonoridades plenas, fortes e suaves... A folhagem rumorejava, o rio marulhava contra os lados em que se sentia prisioneiro, ao longe flutuava uma canção poderosa, bela e que se apossava dos ouvintes...
Paulo, com uma camisa vermelha e cabeça sem chapéu, com a segurança de mão de um remador experiente, sem mexer o tronco, usando apenas os braços, remava. De vez em quando caía-lhe para os olhos uma mecha de cabelo, afastava-a com um movimento tranquilo de cabeça. O olhar reflectia o seu prazer, aspirava profundamente o ar seco e perfumado dizendo de tempos a tempos:-Ah! Que bom!
Natália estava sentada à sua frente, com as mãos pousadas nos joelhos, um sorriso feliz parado nos lábios, e balouçava-se ao ritmo do ruído dos remos de onde caíam belas gotas brilhantes, com um som agradável e suave...
348
Olhava para tudo o que o rodeava, olhava o remador tão grande e forte, e não parava de sorrir, ora com os olhos
- azuis como o céu, ternos e meditativos - ora dos lábios- cheios, carnudos.
Nenhum deles tinha vontade de conversar. Ambos sentiam que era melhor assim, sem palavras; e pareciam-se absolutamente com heróis de romance, por agora apenas pouco apaixonados, inconscientes do seu amor mas já suficientemente interessados um pelo outro, e acelerando o desenrolar dos acontecimentos pela observação do outro. Mas limitavam-se a parecer heróis, mas ainda não o eram, por razões que só o seu destino conhecia.
- Vamos acostar? - perguntou Paulo ao chegarem a uma zona relvada, à beira d'água, que parecia feita propositadamente para piqueniques. Tinha um círculo de bétulas que lhe dava sombra, e o solo estava coberto por uma erva rasa e macia, esmaltada parcimoniosamente por florinhas pobres e discretas.
Puseram o pé em terra, levando consigo os embrulhos dos alimentos, uma panela de cobre e uma garrafa de licor. Meia hora mais tarde estava acesa uma pequena fogueira, num canto do prado, e em cima dela a panela cheia de água; de vez em quando uma gota escorregava-Ihe nos flancos e caía no fogo, volatilizando-se com um rápido crepitar. O fumo ondulava em fitas azuis e dissipava-se nos ares, aturdindo minúsculos mosquitos que caíam ao chão com um zumbido angustioso.
Todo aquele lugar estava tão silencioso que dir-se-ia que apurava o ouvido. Paulo trabalhava desfazendo os embrulhos das provisões, enquanto ela, com ar pensativo, colhia flores e folhas de erva de que formava um ramo, cantarolando baixinho.
Era um pouco sentimental, mas era assim; acreditem na veracidade da minha Musa! Creiam também que no que respeita a colher flores, e a cheirá-las ela não o fazia pior do que qualquer outra rapariga.
Peço desculpa a todas as jovens, se o meu relato as faz pensar que coloco a minha heroína no mesmo plano que elas. Juro que não é nada disso. Que elas se
349
tranquilizem,
não teria a audácia de estabelecer essa comparação. Não posso idealizar: estou simplesmente convencido de que todos os homens podem ser bons, com a condição de o desejarem e se lhes dar tempo.
Depois a panela começou a ferver e eles puseram-se a beber chá e a comer o almoço, servindo-se mutuamente com muita atenção,
trocando breves reparos sobre o encanto de tudo aquilo. Três copos de licor encheram a cabeça de Paulo que sentiu a necessidade de falar.
- Ah! Devem ser bem felizes as pessoas que compreendem as coisas da vida - principiou ele, pensativo.
Natália olhou-o e perguntou, após um silêncio:
- O que há de bom nisso?
Paulo sentiu necessidade de reflectir antes de lhe responder e aproveitando aquela pausa ela começou a falar sem aguardar a resposta.
- Não sei, realmente... mas a mim parece-me que é melhor não compreender nada: fazem-se menos perguntas, tem-se o espírito mais sossegado. É preciso encarar a vida, aceitá-la conforme vem e reparar um pouco menos nos outros.
Começaram a filosofar, mas cansaram-se depressa e então puseram-se a conversar normalmente. Paulo sentia-se cada vez mais embriagado. A tarde caía, calma e morna. Natália olhou à sua volta: começavam as sombras a avançar, alargando a tristeza e Natália teve vontade de regressar. Paulo, porém, mostrou-se difícil de persuadir. Estava como que amolecido e, mesmo dando o seu acordo, deixava-se estar no lugar, rindo vagamente e dando sinais evidentes do fraco combate que travava contra o sono.
Por fim ela arrastou-o para o barco e sentou-se ela própria aos remos; ele estendeu-se no fundo e ficou amodorrado. O barco começou a descer a corrente, com suavidade, seguindo a margem sem auxílio dos remos. Uma brisa agradável reanimava as brasas da fogueira e algumas faúlhas voavam para a água caindo nas manchas de sombra dos arbustos da borda. Natália dirigiu o barco para o meio da corrente e, vogando no silêncio e na doce luz da lua que acabava de surgir, olhava Paulo adormecido
350
e pensava decerto em qualquer coisa muito triste porque as lágrimas corriam-lhe lentamente pelas faces, umas atrás das outras.
De uma das margens olhavam-na as massas escuras dos arbustos; da outra o declive abrupto e austero; e do céu as estrelas que cintilavam com um brilho cada vez mais vivo. Reinava um tal silêncio que dir-se-ia que a vida toda adormecera profundamente: a própria água não fazia ruído sob o barco. Escura e calma, parecia densa como azeite... Ao longe começaram a piscar as luzes da cidade e de lá chegava um rumor surdo, a princípio em rajadas, como os suspiros de animal adormecido e vigoroso, depois numa onda contínua e espessa.
Chegaram. O barco chocou violentamente contra o cais e Paulo acordou. Olhou à sua volta e sentiu-se envergonhado por ter adormecido.
- Desculpe-me, Natália, por ter sido tão... - disse ele quando já se encontravam longe do rio, numa estreita ruela perdida.
Ela perguntou, admirada:
- Desculpá-lo de quê?
Ele explicou-lhe então que seguramente não era muito belo dormir diante de uma mulher.
- Meu Deus! - exclamou ela. - onde é que aprendeu isso? Onde apanhou semelhantes ideias?
Ele não se desmentia:
- Não são disparates; foi a Natália que me leu isso num dos seus livros... Sim, lembra-se? - Levou-a a recordar-se e depois acrescentou, orgulhoso e satisfeito por ter razão: - Está a ver! Nos livros não se podem dizer disparates!
De onde se podia deduzir facilmente que ele conhecia mal a literatura.
Quando chegaram a casa, ele parou ao pé da escada que conduzia às mansardas e estendeu-lhe a mão, dizendo: - Até depois! - Ela teve um momento de hesitação, apertou-lhe a mão de repente entre as suas, com força, e murmurou com voz estranhamente aguda:
- Meu amigo!... Como é bom, como é gentil, gentil!...
351
Depois fugiu pela escada acima, deixando-o estupefacto com o cumprimento.
Na continuação das suas relações, organizaram ainda uma vez um passeio encantador.
Viviam assim, com esta simplicidade. Mas, tal como os homens, o destino cansa-se certamente depressa do género idílico, e por isso decidiu-se a transformar o idílio
em romance.
A coisa começou do seguinte modo: uma bela tarde uma cabeça com bigodes, muito como deve ser, passou a porta da oficina e perguntou a Paulo, com muita educação:
- Desculpe-me incomodá-lo. É aqui que habita uma tal Natália... Natália... não me recordo o apelido?
A cabeça teria feito melhor em não perguntar nada. Porque imediatamente se transformou, aos olhos de Paulo, numa das mais execráveis carantonhas que poderiam existir.
- Não conheço! - respondeu ele com voz rouca e não precisamente amigável.
- Sabe, uma morena... de olhos azuis... pequena...
- Não conheço! - repetiu Paulo, desta vez com manifesta animosidade.
- É curioso!... Tinham-me garantido que morava aqui!
- comentou o estranho, com ar desiludido. - Queira desculpar. Boa tarde.
Paulo não respondeu e sentiu que a desaparição daquela cabeça não tinha dissipado nele o desejo de lhe quebrar a cara com o martelo.
- Não me sabe dizer se é aqui que mora uma rapariga chamada Natália?
A voz de barítono polida e untuosa vinha agora do lado de lá da porta. Paulo saltou, com o martelo na mão, mas subitamente ouviu a voz da própria Natália.
- Por aqui, por aqui, lakov Vassilitch?
Paulo voltou para o seu lugar, sentou-se, espetou a sovela de través, atirou com a bota para o chão e saiu de novo para o pátio. Ficou no limiar, observando a janela da mansarda onde Natália habitava. Não se via nada, mas ouviam-se vozes: a dela, jovial, e a do senhor, grave e cortês. Depois ouviu passos na escada e os dois saíram.
352
Paulo fechou a porta rapidamente, deixando uma fenda por onde se pôs a espreitar.
Natália caminhava ao lado de um senhor alto, coberto com um chapéu de coco, cinzento. Ele cofiava os bigodes e colava os olhos no rosto da rapariga que, por sua vez, olhava para a porta atrás da qual Paulo se escondia. E ambos saíram.
Paulo voltou para a oficina, sentou-se junto da janela e, para ver qualquer coisa de que se passava na rua, atirou a cabeça para trás; mas mesmo assim não via mais do que o último andar da casa em frente, o telhado e o céu por cima. Sentiu-se ali pela primeira vez sob a terra, numa cave húmida, profunda, cheia de fumo. Baixou a cabeça e mergulhou nos seus pensamentos. Chegou o patrão, dirigiu-lhe a palavra, mas não obteve resposta. Então perguntou com ar compassivo:
- Para que diabo estás com cara de enterro? Que aconteceu?
- Nada! - respondeu Paulo, lançando à sua volta um olhar sombrio e inquisitório.
- Parece que a Natália acaba de sair, numa tipóia, com um velhaco qualquer - anunciou o patrão.
- Não, não era ela - respondeu Paulo.
- Então por que não a vais ver, hoje? - indagou Miron, examinando o seu operário com ar de suspeita.
- vou, vou imediatamente.
E efectivamente subiu até lá, mas a porta do quarto estava fechada à chave. Sentou-se no último degrau da escada e pôs-se a olhar para baixo, para a fossa negra que se abria diante dele, silenciosa, severa.
Alguém falava, em baixo, mas Paulo não compreendia nada. Estava absorto nas suas reflexões acerca do seguinte tema: como impedi-la? Como impedi-la de andar na boémia com esses senhores de chapéu de coco?... A vez anterior tinha sido também um de chapéu de coco, esse por acaso negro, e tinha em vez de bigodes uma barba ruiva em flocos; mas era a mesma coisa, ele parecia-se, tal como o de hoje, a um demónio que tivesse cortado o pêlo. Por que razão tais seres deviam nascer, existir e morrer? Por que razão não são todos enviados
353
para as galés? Sentia-se perplexo, incapaz de responder a essas duas perguntas e a muitas outras do mesmo género; e na sua perplexidade sentiu que aquela angústia que o não visitava já há tempos, tinha voltado. Agora tinha-se desabituado dela e por isso era mais aguda. E misturava-se com ela a sensação de uma espécie de ofensa que não a tornava menos dolorosa.
Acabrunhado deixou-se ficar ali sentado, uma hora, duas horas, até à madrugada, até ao momento em que ouviu, à porta, o tilintar de uma tipóia e sentiu passos no pátio.
Paulo sobressaltou-se e quis desaparecer mas era tarde. Natália já subia a escada com o rosto desfeito e olhos vagos. Viu-o e parou no meio, desconcertada.
- Ah! É você! Que lhe aconteceu? - perguntou ela.
Mas ao vê-lo melhor, calou-se. Aquela noite branca tinha-lhe cavado a fisionomia e, trabalhado pelos seus tristes pensamentos, estava seco, duro, os olhos, que a olhavam como nunca o tinham feito, metiam medo.
Ela teve pois sobretudo medo dele, mais do que vergonha; apoiada ao corrimão não se atrevia a avançar mais, enquanto ele se mantinha imóvel e a fixava. A cena era muda e estranha. Essa estranheza era sublinhada pelo pincel de luz que, passando por uma clarabóia do telhado, caía primeiro em cima de Paulo, depois deslocava-se para o fundo da escada e iluminava o rosto dela que mudava de expressão de momento a momento.
Paulo ficaria muito admirado se pudesse ver-se a ele próprio naquela posição. Sentado, com os cotovelos nos joelhos e o queixo nas mãos, olhava para baixo com os olhos de um presidente de tribunal. A atmosfera tornava-se pesada e esse peso aumentava a cada instante. Nem um nem o outro se moviam e ela empalidecia cada vez mais e começava a sentir arrepios sob aquele olhar fixo onde se lia a condenação; parecia-lhe agora que a cara dele, marcada pelas bexigas, rude, tornava-se cada vez mais violenta e começava a chamejar de cólera e de indignação. Como teria terminado aquela cena, se não tivesse vindo um gato em auxílio deles? Saltou pela clarabóia, com um "miau" estridente, passando por cima da cabeça de
354
Paulo; precipitou-se nas escadas, roçou nas pernas de Natália e desapareceu.
Não faço entrar em cena bons ou maus espíritos. Só um me guia: o espírito da verdade. E é um gato que eu faço intervir, uma dessas pequenas contingências que aparecem e desaparecem para dar início a acontecimentos de importância ou lhes abrir passagem, mas quase não atraem a atenção sobre si próprias, a não ser muito raramente. Eu não poderia informar o tamanho ou a raça daquele felino, ao qual devo a possibilidade de tirar agora os meus heróis de uma situação muito delicada.
Soltando um grito, Natália lançou-se para o alto da escada, Paulo saltou ainda mais depressa e deixou-a passar.
- Maldito gato, que susto me pregou!-murmurou Natália, arquejante, procurando enfiar a chave na fechadura.
Os nervos tensos de Paulo tinham também sido afectados; mas ambos tinham saído do seu estado de espanto e Natália, abrindo a porta, convidou-o a entrar sem cerimónia.
Ele entrou, sem dizer nada, com o ar de um homem que acaba de tomar uma firme resolução, foi à janela, sentou-se numa cadeira e ficou a vê-la libertar uma mantilha de renda, à moda antiga, que tinha preso a qualquer coisa no ombro.
- Por que se levantou tão cedo, hoje? - perguntou ela, sentindo que o silêncio se aprontava para se tornar penoso.
Ele olhou-a com ar melancólico e de súbito, cedendo a um impulso interno, pôs-se a falar em tom grave e contido:
- Ainda me não deitei. Ontem, quando vi aquela carantonha a seu lado, e tudo isso... Não é possível!... Devia deixar essa vida! Que tem ela de bom? Qualquer um pode... levá-la... fazer pouco de si... Não foi para isso que nasceu... acredite... Não é justo! Ou isso é-lhe agradável? Como? Agradável isso... chega um tipo, pega em si, leva-a... e todo o resto? Não... abandone isso. Peço-lhe
por favor, Natália.
355
Pronunciou estas últimas palavras baixinho, em tom de súplica; e ela que evidentemente não esperava nada de semelhante estava parada diante dele, com a mantilha na mão, vermelha, mexendo os lábios sem soltar um som, còmicamente, com vontade de dizer alguma coisa, mas não o conseguindo, certamente, ou não achando em si coragem para isso.
Ele olhou-a, baixou a cabeça, e, esperando a resposta, suplicou de novo:
- Peço-lhe, Natália!
Então ela aproximou-se dele, pousou-lhe a mão no ombro e pôs-se a falar, com persuasão, tristemente, suavemente, amargamente:
- bom, uma vez que isto aconteceu, não vou pôr-me a jogar às escondidas com a minha consciência diante de si: vou-lhe contar tudo como se me estivesse a confessar. Sei muito bem que tudo isto lhe é desagradável, quero dizer, a minha conduta. Sei isso, mas que poderia fazer? Isto é a minha vida. Não sou capaz de fazer mais nada. Trabalhar? Não sei trabalhar nem gosto de o fazer. É melhor do que isto, trabalhar e morrer de fome? Mas apesar de tudo tenho o meu pudor; pode crer, sinto vergonha diante de si. Uma grande vergonha, acredite. Mas... que posso fazer? Ha? Nada... não há nada a fazer. Tenho de viver esta vida e é o que tenciono fazer... e... sabe, vou mudar de casa e não lhe direi para onde... É o melhor. Deixe de me visitar. Para que serve isso? Fará melhor se procurar uma rapariga para casar e viver com ela. Há muito boas raparigas que lhe servem. (Esta última frase parecia mais uma pergunta que uma afirmação.)
Paulo varreu tudo aquilo com um largo gesto da mão.
- Eh! Tudo isso está errado, tudo o que me conta... não é nada disso! Nada, nada! A causa principal é a Natália, não sou eu. Por quê eu? Para mim está tudo bem. Você tem de deixar essa vida. É uma vida demasiado miserável, demasiado baixa. Veja só isto: um qualquer vem e leva-a com ele... faz o que quer! Bando de filhos da mãe. Como podem fazer isso? É de ficar com os cabelos em pé, só de pensar. Tipos nojentos!
356
- Meu querido, mas é preciso!... - disse ela tentando consolá-lo, acariciando-lhe o ombro, um pouco assustada com a irritação amarga que havia nas palavras dele, e no rosto desfigurado por uma careta de nojo e de indignação.
- Não... não tem que ser coisa nenhuma. Você está a mentir. Acha que sou alguma criança? Não tem que ser! Estive a pensar nisso cuidadosamente! Uma porcaria! Caramba! É preciso acabar com isso, tem que ser.
- Mas que posso eu fazer, meu caro? - perguntava ela baixinho, com um tom apaziguador, cada vez
mais assustada e mais inclinada para ele.
Agora estava sentado, com as costas contra o espaldar da cadeira; uma das mãos estava enclavinhada no peitoril da janela e a outra fazia gestos cortantes e limpava o rosto congestionado de cólera e coberto de suor.
- Fazer! Deixar tudo isso! Expulsá-los a todos!... Fora da porta... Para o diabo!...
- Não grites... vão-te ouvir!... não grites. Falemos com calma, está bem? Vá, pensa...
- Não quero. Já pensei.
- Não pensaste. Espera aí...
Reunindo toda a sua coragem agarrou-lhe na mão e, como não tinha onde se sentar, deixou-se cair de joelhos diante dele.
- Eu não sou boa para nenhuma espécie de trabalho e ninguém me quereria, com os papéis que tenho...- começou ela, destacando as palavras.
- He!...-ele teve um gesto de impaciência, e atingido de repente por uma ideia, endireitou-se, inclinou-se para ela e, sem dizer nada, encarou-a, olhos nos olhos; depois disse de repente, vagarosamente, com tranquilidade e firmeza:
- Muito bem, queres-me como marido? Diz-me, queres? Aceita!... Hem? Aceita!... Eu... tu...-a voz desceu até se transformar num murmúrio tímido e quebrou-se.
Ela lançou-se para trás, abriu os olhos desmesuradamente, enlaçou-o num súbito impulso, balbuciando através das lágrimas:
- Meu querido... meu pequeno!... Casar-me, eu...
357
eu... contigo! Como tu és! Casar-me contigo... eu... eu! Criança!
Ria estranhamente, chorando ao mesmo tempo e começou a beijá-lo, apertando-lhe os braços no pescoço.
Aquilo era novo para ele: inicialmente prestou atenção apenas ao movimento do sangue que fervilhava nas veias e lhe dava uma agradável vertigem; depois, claro, cedeu à paixão e apertou-a contra si, com avidez, sufocando, esforçando-se por dizer qualquer coisa e beijando-a sem fim com os lábios ardentes e ávidos...
Os primeiros raios de sol atravessaram a janela e encheram o quarto com uma luz rósea e delicada.
Paulo foi o primeiro a acordar. O quarto estava abafado, a intensidade luminosa fazia cegar os olhos e reinava o silêncio; ouvia-se apenas, ao longe, um ruído vago e abafado. O sol caía em cheio no rosto de Natália. A luz fazia-a contrair as pálpebras e franzir os sobrolhos; o lábio superior erguia-se com aspecto zangado, o que lhe dava uma expressão caprichosa e severa ao mesmo tempo, enquanto as faces rosadas levavam Paulo a pensar que ela fingia dormir. Os cabelos castanhos, desfeitos durante o sono e espalhados em redor da cabeça em mechas ligeiras eram anelados... O ombro, carnudo e branco estava à vista, e a respiração fazia vibrar as finas narinas cor de rosa... estava ao sol como se fosse transparente, resplandecia.
Paulo, sem se levantar começou a acariciar-lhe os cabelos com muita ternura. Ela abriu os olhos, sonolenta, mas sorriu-lhe com meiguice e depois desviou-se do sol.
Ele levantou-se e vestiu-se. Depois pegou numa cadeira com precaução, colocou-a junto da cama e pôs-se a olhá-la, ouvindo-lhe a respiração amena. Ela parecia-lhe mais próxima, mais íntima e preciosa que nunca. Ele sorria silenciosamente e mantinha-se sentado, fazendo planos para o futuro, como convinha a um amante feliz que ainda não teve tempo para se fatigar do seu amor.
Imaginava a oficina que abriria depois do casamento. Seria uma salinha, mas não tão escura e cheia de fumo
358
como a de Miron. Não. A dele seria clara, limpa e ao lado haveria outra, o quarto deles, pequena também mas forrado com papel azul celeste, ao passo que a primeira teria papel amarelo com flores vermelhas. Era muito bonito, aquilo. As janelas do apartamento deveriam dar para um jardim onde eles passariam as noites a beber chá e para onde, no verão, a brisa traria em ondas os magníficos odores da verdura... Ela cozinharia, depois ele ensinar-lhe-ia a fazer botas e teriam filhos... E haveria muitas coisas boas, doces, amorosas...
Levantou-se com uma expressão de
Felicidade
total, suspirou, olhou à sua volta, aproximou-se da mesa, pegou no samovar, sorriu abertamente e foi acendê-lo. Que boa ideia. Ela acordará, em cima da mesa estará o samovar a ferver alegremente e ele, sentado, vai fazer de dono da casa!... Ela vai decerto agradecer-lhe.
Esperou que os cavacos ardessem, pôs carvão, depois regressou ao quarto a passos de gigante na intenção de pôr tudo em ordem. Esperava-o uma decepção: Natália estava acordada; a surpresa tinha falhado.
- E eu que fui acender o samovar!...-fez ele com um certo desencanto.
- Ah! Que horas serão? - perguntou ela.
- Já passa do meio-dia -respondeu ele. Pareceu-lhe bizarro falarem de semelhantes coisas.
Tinha a sensação de que se deveria tocar outros assuntos, mas não poderia precisar o quê nem como. Sentou-se novamente junto da cama.
- Estás contente? - perguntou ela, com um sorriso.
- Meu tesouro! Estou tão contente, Natália! Tão contente! - extasiou-se ele.
- Então tanto melhor - comentou Natália com ironia. Paulo teve vontade de a beijar. Pegou-lhe na cabeça
e inclinou-se para ela.
- Ah! Ah! Já vejo que lhe ganhaste o gosto - ironizou ela.
Aquelas palavras, aquele tom irónico, tiveram em Paulo o efeito de uma rajada de vento gelado.
- Que tens? - perguntou ele, perplexo.
359
- Eu? Nada!... Então, não mudaste de opinião? Ainda tens vontade de te casar?
Aquelas palavras eram sem equívoco, a ironia vibrava nelas: Paulo reparou nisso e perguntou a si mesmo que podia aquilo significar.
Ela começou a vestir-se, sentada na cama. O rosto estava triste e até, dir-se-ia, com uma certa maldade.
- Por que é que tu és assim? - perguntou Paulo timidamente.
- Assim! Assim como? - disse ela, sem o olhar. Mas o próprio Paulo não o sabia muito bem. Sentia
apenas que ela não era tal como a marcha dos acontecimentos o exigia. Mas ela tinha as suas razões para ser assim. Desde que acordara produzira-se nela uma brusca reviravolta. Tinha-se lembrado subitamente de tudo o que se passara entre eles, tinha-o recordado e sentido que acabara de perder um homem que lhe era querido cedendo ao impulso que tinha colocado as relações com ele naqueles ignóbeis limites que ela conhecia tão bem e de que estava farta. Ela não tinha qualquer necessidade disso; estava presa à atitude amigável e respeitosa que Paulo tinha para com ela ainda algumas horas antes e que agora deveria desaparecer, segundo lhe parecia. Ela sabia perfeitamente como acabavam aquelas relações que começavam sempre da mesma maneira e, embora visse Paulo feliz e alegre, não se podia impedir de pensar que ele não o estaria por muito tempo... Ela tinha perdido um homem!... Estava furiosa consigo mesma, o coração cheio de amargura, e embora o prestígio dele não se tivesse alterado aos seus olhos, nem por isso deixava de lhe descarregar em cima uma parte dos seus novos sentimentos.
E ele, vendo-a vestir-se, sentia agitar-se dentro de si, cada vez mais violento, o desejo de a estreitar e de a acariciar; sem coragem para se conter, nem vendo, de resto, razão para o fazer, enlaçou-a. Ela submeteu-se ao abraço, com um sorriso no canto dos lábios irónico e frio; manteve-se fria, mas ele, cheio de ardor, não se apercebeu.
Dez minutos depois tomavam o chá; ela já lavada e penteada, sentada na cama, ele numa cadeira em frente;
360
ele calado, cheio de um êxtase mudo, ela, triste, olhando-o por cima da chávena e suspirando.
Subitamente Paulo notou que nas faces dela rolavam grossas lágrimas que caíam gota a gota no chá que ela não parava de beber. Nunca se tinha visto aquilo: beber chá com lágrimas e conseguir, ao mesmo tempo, exibir uma expressão tão tranquila e impassível. É o menos que se pode dizer.
- Que tens? Ha? Que tens? Por que choras? balbuciou Paulo, saltando da cadeira e precipitando-se para ela.
Então ela pousou a chávena na mesa, fazendo saltar
por fora o seu chá com lágrimas e disse, no meio dos soluços:
- Sou uma parva! Roubei-me a mim mesmo!... Em toda a minha vida só ouvi uma vez o rouxinol e eu própria o assustei. Está tudo perdido, agora! Acabado, Natália! Agora conheces-me!... Ho!... Ho!... Parva!... Parva!...
Paulo não percebia o que aquilo queria dizer e acariciava-a, o que servia para, voluntariamente, confirmar as suspeitas dela. Natália continuava a chorar. Por fim ele disse:
- Vamos, Natália, pára com isso. Já chega. Vamo-nos casar e seremos felizes. Terei uma oficina e tu serás a dona de casa, uma mulher como as outras todas. Ha? Não achas bem?
Ela afastou os braços que lhe enlaçavam o pescoço e disse com um tom sarcástico, mas onde havia também esperança, uma pequena esperança, quase imperceptível:
- Quanto tempo manterás essa linguagem? Uma semana? Conheço bem os homens! Conheço-te bem, meu rapazinho!... Mas não é isso que eu quero dizer, não é isso, não tenhas medo. O teu casamento... ora... não o tomarei a sério. Não, não! Pensas que eu aceitaria casar-me, assim? Mesmo contigo, apesar de tu seres bom, não me casarei. Os bons não dão flores por muito tempo. E eu não quero ouvir censuras sobre a minha vida. Não quero. Julgas que não acabarias por me atirar à cara o que eu era antes de ser tua mulher? Eh!, meu querido!... Sei-o muito bem, como qualquer outra. Para nós não há
361
um único torrão de terra firme no pântano. Não é isso que te quero dizer... Não aceito o casamento, mas sinto compaixão por mim mesma, uma parva, que perdi um verdadeiro amigo. Ho! Ho! Uma parva!...
Paulo esforçava-se por penetrar o sentido daquele discurso, sem o conseguir. Mas as lágrimas dela agiam e acabaram por criar nele uma inspiração melancólica e um vago receio.
- Ouve, Natália, não me rasgues o coração-começou ele com o sobrolho levemente erguido. - Não me atormentes com as tuas palavras, não as posso compreender. Não são feitas para mim. Mas a questão não é essa. Ouve o que te vou dizer, vou-te abrir o meu coração: olha! Tu és para mim a primeira, a mais querida que pode existir no mundo. A melhor de todas! É isso que eu sinto! E por ti farei tudo. Diz-me: Paulo, apaga o sol! E eu subirei para o telhado para soprar até que o sol se apague ou eu rebente. Diz-me: Paulo, estrangula as pessoas! E eu irei pelas ruas e matarei. Diz-me: Paulo, salta pela janela! e eu salto imediatamente. Farei o que quiseres. Diz-me: Paulo, beija-me
os pés!... Queres? Beijá-los-ei agora mesmo!
E lançou-se-lhe realmente aos pés, coisa que, como toda a gente sabe, há muito que passou de moda.
Esta explosão cortou o fôlego a Natália. Ela tinha-lhe ouvido as primeiras palavras com um sorriso céptico, mas transformou-o num sorriso alegre quando ele propôs apagar o sol, estremeceu quando ele declarou que mataria em sua honra (ele era terrível, flamejava, todo o corpo vibrava), e, quando se lhe lançou aos pés para os beijar ela sentiu um orgulho selvagem e deixou-o beijá-la sem a menor resistência.
Escravizar um homem foi sempre, para toda a gente, um grande prazer. Ela via um homem escravizado por ela.
Mas nada humano lhe era estranho, e ela tinha pena daquele que via a seus pés. Inclinou-se, pegou-lhe pelos ombros e ergueu-o; depois afagou-o como nunca tinha afagado ninguém. Quando acabaram por se acalmar estavam ambos quebrados e exaustos.
362
Mas nem tudo se tinha apaziguado neles e decidiram ir passear para o arrabalde, pelos campos. Paulo tinha esquecido a oficina, o patrão, tudo, e seguia com ela pelas ruelas desertas que Natália escolhia propositadamente para evitar o encontro com pessoas conhecidas. Foram até aos prados e erraram durante muito tempo, sozinhos, sem necessidade de ninguém, falando simplesmente, sem o temor de se mostrarem ridículos ou estúpidos, sem o desejo de impor as suas ideias mutuamente, nem os seus sentimentos, sem o desejo recíproco de proclamar a superioridade de cada um em todas as coisas, sem tudo o que acompanha o amor nas pessoas cultas e que, tornando-o mais picante, o torna igualmente
Menos completo.
Perdoemos pois aos meus heróis a sua falta de cultura "considerando os motivos acima, expostos", como dizem os juristas.
Por fim, chegaram à margem do rio, sentaram-se ao pé do bosque de salgueiros, na areia limpa, lavada pelas ondas, e, depois de terem ficado sentados um momento, adormeceram fortemente enlaçados.
Alguns dias após estes acontecimentos, Paulo começou a ter a impressão de que todos os pés masculinos que passavam diante da janela da oficina se dirigiam à mansarda de Natália, e isso fazia-o saltar a cada momento na cadeira e precipitar-se para o pátio. O patrão via-lhe aquelas manobras e ria-se-lhe nas barbas. Paulo tinha-lhe contado tudo, e tinha-o mesmo transformado por algum tempo em bloco de pedra, ao anunciar-lhe, com o maior respeito, o seu desejo de o ter como padrinho de casamento. Miron quando saiu da sua estupefacção debitou-lhe um discurso completo que começava assim: Meu caro palerma! Ouve-me, estive casado duas vezes. A minha primeira mulher confundia-me sempre com os meus operários, e a minha segunda amava-me tanto que não sei como consegui sobreviver: a todos os momentos, com tudo o que lhe caía nas mãos, pan, pan!... parecia que o pai e a mãe eram ambos sargentos de tal maneira ela gostava de bater em toda a gente.
Depois esboçou um quadro da vida de família com as panelas, os trapos, os espevitadores do lume, a barrela
363
da roupa, a limpeza do chão, e um sem número de outros condimentos a acompanhar e que o obrigavam, segundo a sua descrição, que ele jurava ser exacta, a comer sopa com sabão, a caminhar com as mãos pelo chão, a suportar que lhe atirassem com trapos molhados à cabeça e experimentar nela a solidez de diversos recipientes. Depois filosofou um pouco sob o tema da mulher em geral (o que ela é) e, chegando a uma triste conclusão, comentou:
- Acho-te graça!... Que necessidade tens disso? Que falta te faz? Vais perder a cabeça com ela, garanto-te. Admitamos: ela modificou-te, transformou-te, agora és completamente um homem, és alegre, ris, conversas... Mas meu caro já lhe pagaste o esforço, os cuidados que teve. Acaso qualquer outro teria com ela as atenções que tu tens? bom, isso para ela é bastante bem, é o suficiente. Quanto a ti, se é essa a tua vontade casa-te cristãmente, eu te arranjarei uma destas pequenas que se desfaz em manteiga... tu me dirás depois. Receberás um dote, poderás abrir uma oficina. Ao passo que com a Natália estarás chateado da existência ao fim de um mês. E como ireis viver? Vocês não têm coisa nenhuma, nem pratos, nem colheres, e ela não sabe fazer nada!... Larga-a da mão, manda-a passear.
Este discurso entrou por um ouvido de Paulo e saiu pelo outro. Nos últimos tempos tinha-se aproximado de tal modo de Natália, que não concebia a ideia de a mandar passear, mas sentia que para trabalhar com o mesmo entusiasmo e cuidado anteriores, lhe era necessário a presença de Natália na oficina.
Logo que terminou o trabalho subiu a casa dela e não
a encontrou. Empalideceu, começou a tremer e sentou-se diante da porta onde ficou até ao regresso da rapariga. Ela apaziguou-o garantindo-lhe que tinha ido visitar uma amiga que lhe tinha prometido arranjar um lugar de criada. Isso alegrou-o, acreditou no que ela dizia e esqueceu os seus temores. Mas bem depressa lhe surgiu esta pergunta: "Onde arranjava ela o seu dinheiro?" Isto gelou-o e fez com que a interrogasse a esse respeito.
364
- Não tenho necessidade de grande coisa! - respondeu ela. Mas isto não lhe servia e ele insistiu.
- Juntei... algum dinheiro, pouco a pouco. Isso permite-me viver, por agora.
Alguma coisa o levou a pedir que lhe mostrasse o dinheiro.
Ela ficou um momento sonhadora, mas acabou por dizer:
- Apesar de tudo, posso-to mostrar, por que não? Mas não conseguiu encontrar a chave da caixa e o problema ficou em suspenso.
Quando Paulo sonhava alto a sua vida futura, ela calava-se, fechando os olhos com ar cismador, e, quando ele incendiado pelos seus sonhos, a acariciava, ela correspondia friamente, a tal ponto que uma vez levou-o a reflectir e a fazer a pergunta.
- Talvez tudo isto não te diga nada.
- Que estás a dizer?... Pelo contrário, gosto muito. Isso bastava para o acalmar.
Ele entregava-lhe o seu dinheiro, dava-lho como à sua mulher, à dona da casa. Uma vez comprou-lhe um tecido para um vestido. Mas ela recebia tudo isso com uma espécie de ternura simplesmente formal. Foi esta atitude perante as suas atenções que provocou os primeiros actos de ciúme, fino e agudo.
Inicialmente ele não compreendia esse sentimento e calava-o. Mas um dia produziu-se o seguinte:
Tomavam o chá quando de repente se ouviram passos na escada e um assobio jovial, substituído depois por uma voz de tenor que cantava:
vou a casa de Matania, meu amor E aqui está o ninho da minha Matania.
Paulo teve um arrepio e empalideceu pressentimdo qualquer coisa de desagradável.
E aqui está o ninho da minha Matania!
- Oh! Está com visitas! - comentou o cantor desapontado, arrastando a voz, ao abrir a porta.
365
Vestia com uma certa elegância, tinha a ponta dos bigodes arruivados em flecha e, no conjunto, um aspecto bastante ordinário. Depois de examinar Paulo entrou no quarto sem acanhamento e ainda com mais à-vontade pendurou o chapéu num prego e dirigiu-se a Natália que o acolheu com um sorriso confuso e contrafeito.
- Boa tarde, divina!
- Que queres daqui? - perguntou Paulo, mantendo-se porém no seu lugar.
O janota olhou-o, mexeu os bigodes e terminou com sangue frio o seu cumprimento, sacudindo cortesmente a mão de Natália:
- Natália! Ofereça-me o chá e explique-me a situação deste senhor mal-educado que traz uma correia na testa.
- Desaparece daqui! - disse o senhor mal-educado, levantando-se.
- O quê?... Natália, como devo interpretar isto? perguntou o senhor em tom ofendido.
- Desapareces ou quê? - repetiu Paulo, sacudido por um arrepio de mau agouro.
- Bem, bem, eu saio! - apressou-se a concordar o bonifrate.
Saiu, mas ao descer a escada, exclamou:
- Os meus cumprimentos ao casal. Eu informarei... Mas não se conseguiu perceber quem é que ele pretendia informar.
Os outros dois ficaram muito tempo sentados, em silêncio.
- Quando é que eles deixarão de andar aqui a meter o nariz? - perguntou Paulo com ar sombrio.
- Quando os tiveres expulsado a todos - replicou Natália, calmamente.
- Faltam muitos?
- Não sei. Não os contei. Por que te desagradam eles tanto? - perguntou ela com um sorriso mau olhando-o de esguelha.
- Tens de compreender que não posso suportar isso. Não posso. Agora és minha...
- Hum! Hum! Onde me compraste? Por quanto pagaste semelhante mulher? - perguntou Natália ironicamente.
366
Paulo calou-se, contristado.
- Ris-te. Era melhor que não risses. Não minto ao dizer-te isso. És minha. Não paro de pensar em ti, dia e noite.
- Está bem. Não falemos mais nisso! - consentiu Natália, secamente.
Desde há algum tempo a atitude de Paulo para com os seus visitantes perturbava-a. Ela era de opinião que não convinha romper com eles; havia alguns agradáveis, alegres. Às vezes Paulo parecia-lhe não só um urso mas também um misantropo. Ela pensava que a vida não iria ser fácil com ele sempre a seu lado. Ela tinha os seus gostos e ele os dele, muito bizarros, para não dizer cómicos. Mas apesar de tudo era bom rapaz, limpo, honesto, que a amava e isso enchia-a de orgulho; um homem que a considerava como sua igual, o que a envaidecia extremamente. Conversava com ela a respeito de tudo o que tinha no coração e ela podia proceder com ele da mesma forma. Nos últimos
tempos ela
pensava frequentemente em achar um meio de não o perder continuando a viver como antes de o conhecer. Para ela, essa vida, pouco limpa, é certo, mas alegre, não deixava de ter atractivos. Tudo o que ela lhe daria de bom, ela o comeria sozinha, e todos os aborrecimentos ela os partilharia com ele. E esperava poder, com o tempo, domesticá-lo até ele aceitar isso. Gostava muito de ouvir as invenções quiméricas de Paulo acerca do casamento: fechava os olhos, pensativa, com um sorriso nos lábios, e imaginava diversos quadros de família, cenas alegres, vivas, que a encantavam. Mas estava firmemente persuadida que lhe passaria depressa aquele arrebatamento amoroso que ela entendia à sua maneira, de um modo pouco amável para ele, e que quando tivesse passado começariam a chover censuras, pancadas, etc. Além disso, viver até ao dia da morte sempre com o mesmo homem, um único quarto, dia e noite, devia ser incrivelmente aborrecido! Outras vezes parecia-lhe que poderia viver com ele, feliz, durante muito tempo, mas que ele não tinha necessidade disso, que ele não o merecia e não consentiria em casar com ele, apesar de todas as suas súplicas, porque sentia pena dele, que era tão bom
367
e amava-a tanto. Queria que ele fosse feliz e quanto à sua vida não pretendia modificá-la.
Esses pensamentos eram acompanhados por uma estranha sensação de serenidade. Parecia-lhe ser mais pura e mais inteligente quando pensava assim; e guiada inconscientemente pela paixão da garridice feminina, pôs-se a criar artificialmente uma disposição melancólica, a acolher Paulo com ar suave, pensativo e como que acabrunhado. Isso inclinava-o para as ternuras, de onde passava sempre para os sonhos quiméricos. Desse modo dissipava Natália o aborrecimento que as relações com Paulo começavam a despertar em si. Mas por vezes não suportava esse papel, sentindo que se aborrecia na companhia dele, e deixava cair a máscara, mostrando as garras. Paulo, cada vez mais afeiçoado sentia dia a dia a necessidade de ter com ela uma explicação definitiva; e acabou por a realizar.
Uma noite, ao passearem pela cidade, entraram num jardim e sentaram-se num banco, sob o abrigo espesso de uma acácia onde já brilhavam algumas folhas amareladas.
- E então, Natália? - perguntou ele, olhando-a de lado, com aspecto grave.
- E então quê? - inquiriu ela, abanando-se com um ramo quebrado e adivinhando muito bem a respeito do que ele queria falar.
- Quando fazemos esse casamento?
Os raios do luar atravessavam a folhagem, descia sobre eles uma rede de sombra que lhes pousava aos pés e atingia o banco fronteiro onde ondulava suavemente. O jardim estava silencioso e, por cima, no céu calmo e puro, dissolviam-se pensativamente nuvens transparentes, macias, cuja leve trama não velava o brilhante cintilar das estrelas, acima delas.
Tudo isso, somado à fadiga do passeio, despertava em Natália uma disposição mais pensativa e a oposição que tinha pensado fazer a Paulo a respeito do casamento parecia-lhe agora absolutamente justa e realmente compreensível.
- Casarmo-nos? - disse ela, abanando a cabeça. Só te digo isto: abandona essa ideia. Achas que sou
368
mulher para ti? Sou apenas uma rapariga da rua e tu és um trabalhador honesto: não podemos emparelhar direito. Eu já te disse muito claramente que não podia ser outra coisa, é como uma maldição.
A própria humilhação a que se submetia era-lhe agradável: permitia-lhe pensar em si própria como uma dessas raparigas ou mulheres cuja história lia nos livros.
- A ti - prosseguia ela cada vez mais melancolicamente- é-te necessária uma boa esposa, uma mulher honesta. E eu, está escrito que terei de morrer na lama. Só queria uma coisa: ver a tua vida quando ela se arranjar. Terás uma mulher, filhos, a oficina... Então - prosseguiu ela com a voz trémula, cheia
de lágrimas contidas, quase num murmúrio - aproximar-me-ei da tua casa... devagarinho... e olharei... olharei como... Meu querido Paulo...
Os soluços rebentaram. Ela sentia efectivamente pena e dor por tudo o que acabava de dizer. Veio-lhe ao espírito uma cena de um romance: apaixonada, mas sacrificando o seu amor à felicidade dele com outra, desprezada por todos, Mary Desiré, andrajosa, esgotada por uma longa caminhada, está sob as janelas de Charles Lecombe e vê-o através da vidraça, sentado aos pés da esposa, Florence; ele lê alto enquanto ela olha pensativamente as chamas da lareira, com uma das mãos na mão do filho que tem nos joelhos e a outra acariciando os anéis de cabelo de Charles. A pobre Mary veio de muito longe, a pé, para trazer a prova da sua inocência e do seu amor, mas infelizmente era demasiado tarde... Morre de frio sob as janelas daquele que ama... A sorte posterior deste último é desconhecida de Natália, uma vez que faltam ao livro as últimas páginas. Quando esse quadro surgiu perante os olhos de Natália, os soluços tornaram-se ainda mais amargos e violentos.
Paulo tremia dos pés à cabeça, de piedade e de amor, de impotência e de dor; e, enquanto tremia, apertava-a fortemente contra si, dizendo-lhe com voz abafada e a garganta cheia de lágrimas:
- Minha Natália! Minha querida Natália! Basta! Pára! Amo-te... Não te deixarei para outro... sabes bem que...
Isso e outras frases ainda, do mesmo género.
369
369
Quando afinal ela se acalmou um pouco, Paulo, transtornado e exaltado pelo seu amor e por essa nobreza que tinha por instinto, tomou a palavra, começando com voz forte, triunfante:
- Ouve. Tu és minha! És minha porque eu penso em ti noite e dia, e porque além de ti não tenho ninguém. E não tenho necessidade de ninguém. De ninguém. E tu, podes dizer o que quiseres, não deixarei de te tomar para mim, compreende isso, peço-te... Não te posso ceder a ninguém porque sem ti não há existência para mim. Como poderia viver assim, quando não faço outra coisa senão pensar em ti? És minha! Por ti seria capaz de arrancar o coração do peito. Compreendes? E não continues a discutir.
Mas ela discutia. Humilhava-se perante ele e ao mesmo tempo sentia-se cada vez mais realçada: um sentimento imenso e agradável apossava-se dela à medida que ia vertendo sobre si mesma a lama das suas confissões e, falando com uma sinceridade cada vez maior, acabou por lhe dizer:
- Supões talvez que fiquei pura durante este tempo?... Meu pobre amigo! Todos os dias...
Mas não acabou a frase. Paulo levantou-se, sacudiu-a agarrando-a pelos ombros e murmurou com voz contida:
- Cala-te!... Cala-te!... Matava-te! Rangeu os dentes furiosamente.
Dobrada sob a forte pressão das mãos que lhe esmagavam os ombros, Natália sentiu que tinha ultrapassado as medidas e o terror invadiu-a. Paulo via-a tremer e a compaixão refreou um pouco o arrebatamento do ciúme sem diminuir no entanto a afronta que lhe tinha sido feita. Deixou-se cair pesadamente ao lado dela. Caiu sobre eles um pesado silêncio, de um comprimento insuportável. Natália, ainda a tremer, foi a primeira a rompê-lo, murmurando:
- Vamos para casa. Ele levantou-se e acompanhou-a sem dizer uma
palavra.
- Se és capaz de me dizer coisas semelhantes é porque não me amas. Não há bons sentimentos nelas.
370
Devias-me esconder isso. Não há dúvida!... - disse ele finalmente, pondo os seus pensamentos em ordem.
Ela soltou um profundo suspiro e o rosto reflectiu um remorso sincero.
- Muito bem. De futuro não me digas nada. A nossa conversa terminou. Tenho dinheiro: quarenta e dois rublos e vinte na mão do patrão. Para o casamento e para os primeiros tempos é suficiente. Tens um vestido... um que possas pôr para ir à igreja... que não tenhas ainda vestido vez nenhuma?
- Não! - disse ela, num fio de voz.
- bom, então é preciso fazer um. Amanhã comprarei o tecido.
Ela manteve-se em silêncio. Quando chegaram ele deixou-a ao pé da escada, depois de lhe ter dito em voz baixa.
- Hoje, não vou a tua casa.
- Está bem! - acenou ela com a cabeça, subindo a escada numa corrida.
Ele ouviu a fechadura a fechar a porta, lá em cima, depois saiu. Sentia-se profundamente mortificado com a confissão de Natália e parecia-lhe que toda a rua o envolvia num estranho sopro gelado que lhe despertava no peito sentimentos há muito esquecidos: solidão, angústia, e os seus velhos pensamentos que agora lhe eram mais dolorosos e incompreensíveis, porque traziam algo de novo que não existia neles anteriormente.
Quanto a Natália, ao entrar no quarto, fechou a porta à chave, sentou-se sem se despir junto da janela aberta, soltou um suspiro de alívio; depois, com a face apoiada no côncavo da mão, ficou a olhar pela janela.
As nuvens acumulavam-se. Vogavam pelo céu, emergindo de uma sombra espessa que cobria o horizonte com uma pesada cortina de veludo. Deslocavam-se tão
lentamente que se diria não o fazerem senão por dever, um dever de que há muito se sentiam cansadas. Devoravam o céu todo, apagavam as estrelas uma a uma e, como se lamentassem estragar o céu apagando-lhe todos os seus ornamentos e escondendo da terra o seu brilho suave e apaziguador, deixavam cair grossas gotas de chuva como
371
lágrimas. A chuva tamborilava em cima do telhado de zinco: pareciam sinais que as nuvens faziam à terra, como advertência.
Natália, tal como Paulo, sentia-se ofendida e escravizada como nunca.
"É então assim que tu és? Como os outros, hoje meigo, amanhã brutal. Meu menino, bem podes correr... Vais ver o que te faço."
Viu novamente diante de si o rosto dele congestionado pelo furor; os dentes rangiam ao dizer: "Cala-te... Matava-te!..." Por quê? Porque ela tinha sido sincera e lhe tinha confessado toda a verdade? Que grandeza de alma!... e dizia-se amigo, ainda por cima!... E ainda por cima a ama!... Até agora ninguém tinha ameaçado de a matar, e quando lhe batiam, era simplesmente porque sim, sem a menor advertência e quase sempre sob o peso da embriaguês.
Mas entre esses senhores e ele, que diferença! Imaginou outra vez as cenas da sua vida com Paulo sucessivamente, dia após dia, e completamente da manhã para a noite, com todos os pormenores. Ei-los que acordam, de manhã cedo. Ela ainda tem vontade de dormir mas é preciso pôr o samovar, é tempo de Paulo começar o trabalho: é preciso acender o fogão, fazer a comida; se houver com quê; é preciso arranjar a casa, lavar a louça... almoçar, lavar a louça, varrer o chão, coser para ele ou para ela, pôr novamente o samovar... e é noite.
bom, digamos que os dois vão passear, se tiverem tempo livre. Passear com ele não é muito divertido. Nunca receberão visitas: Paulo é de tal modo um urso!... Ao chegarem do passeio comerão e irão para a cama. Mais um dia passado. E quando o trabalho faltar? E quando ele começar a censurar-lhe a vida passada e depois a bater-lhe?... E provavelmente terá ciúmes de toda a gente, desde os garotos de doze anos aos velhos de setenta. De que poderá ela conversar com ele? Ele é mais estúpido que ela e analfabeto! Ela gosta de ler; onde irá arranjar os livros?...
Quanto mais reflectia mais a vida com Paulo lhe parecia insuportável. "Por que preço me vou vender a ele?" pensou, concluindo rapidamente que ele não tinha com
372
que pagar. Pôs-se então a rememorar o que a ligava a ele e de que lhe era devedora. Descobriu com prazer que era Paulo que lhe devia e não o contrário e que toda a atracção que ela tinha por ele repousava no facto de ele ser infeliz e sozinho... "E agora?" Neste ponto suspirou à vontade, livremente, e disse em voz alta, em tom de censura:
- Ah! ah! Diabo bexigoso!... espera aí, vou-te mostrar quem sou!... Não voltarás a minha casa para ranger os dentes!... Pensas que sou tua escrava? Bem podes correr e saltar! Não contes com isso, meu menino.
Levantou-se de repente, cobriu-se com um xaile e um casaco qualquer e saiu rapidamente sem fechar a porta nem se preocupar com a chuva
Que caía,
chicoteava monotonamente o telhado de zinco, os passeios e os vidros... Tinha pressa de mostrar a Paulo como elas mordiam e estava cheia de uma audácia malévola e do sentimento da sua independência.
Esteve ausente dois dias. Desde que entrou no quarto dela na manhã do primeiro dia, Paulo sentiu que se tinha passado qualquer coisa, e que essa qualquer coisa era desagradável para ele. Esperou Natália todo o dia e à noite percorreu a cidade, espreitando em todas as tavernas e cervejarias, mas sem a encontrar em parte alguma. Apertou os dentes, entristeceu, curvou-se e ficou calado todo o dia. Um sofrimento abafado e o sentimento de algo de penoso e de doloroso oprimia-o; pouco a pouco a cólera contra Natália crescia dentro de si. Ao terceiro dia tinha emagrecido, as faces tinham-se cavado como na altura da doença.
Nesse dia, pela tarde, duas caleças passaram diante das janelas da oficina e pararam no portal. Paulo ouviu os risos e, empalidecendo, precipitou-se para fora.
Ela avançava pelo braço de um homem apagado, em uniforme dos Serviços Administrativos do Exército; os bigodes, o rosto, o uniforme, tudo nele parecia ter desbotado; quanto a Natália, já vinha embriagada, cambaleava, cantarolava e ria. Seguia-os um segundo par, uma rapariga morena, magra e pequena, e um homem idoso que tinha aspecto de cozinheiro.
373
Paulo via-os da entrada, por um interstício das tábuas e sentia a cólera ferver dentro de si; abafava de furor; mas quando eles desapareceram na escada, acalmou-se repentinamente e mergulhou num desespero frio e imóvel. Sentou-se no chão da entrada, apoiou a cabeça contra um depósito de água e deixou-se cair numa espécie de torpor. Parecia ouvir-lhes os risos e as palavras, lá em cima... e diante dos olhos dançava a imagem de Natália em diferentes posições, animada, rindo com um riso jovial e ruidoso que nunca tinha tido com ele. E uma pergunta surgiu-lhe no espírito: "Por que é que ela nunca foi assim comigo?" Encontrou rapidamente a resposta: com ele, ela não podia ser assim: ele era acanhado, estúpido e aborrecido. A consciência disso aumentou-lhe ainda mais a tristeza. Portanto, ele perdia-a por sua própria culpa. Perde-a!... Perde-a... e fica novamente como estava antes de a ter encontrado: uma criança perdida, solitária, silenciosa... inútil, ridícula. E, tal como acontece sempre quando se perde uma mulher amada, Paulo recordava com vivacidade tudo o que havia de bom em Natália, e, afastando todos os seus defeitos, acabou por a imaginar tão pura, tão terna, tão boa e indispensável, que a sua tristeza cresceu até à sufocação.
Subitamente levantou-se, sorriu, e com uma expressão extremamente resoluta atravessou o pátio, subiu a escada com um salto e precipitou-se para a mansarda. Entretanto chegavam até ele ruídos alegres e agitados.
Ei-lo na porta. Natália excitada, vermelha, com uma mão na anca, a outra no ar segurando um xaile, prepara-se certamente para dançar... Tudo o resto era um nevoeiro, só Natália era encantadora e viva.
- Boa tarde, menina Natália! - exclamou Paulo com voz trémula, mas alegremente.
- Ah!... És tu! - exclamou Natália, com voz abafada, um pouco trémula também e amedrontada.
Depois tudo se tornou morto e silencioso... e tudo oscilou e desapareceu... Só ficou Natália no lugar, olhando-o, imóvel, com os seus olhos grandes, azuis, tão bons e tão claros.
374
- Bem... vim até aqui... vim-me divertir um pouco... ouvi as vossas gargalhadas e pensei:... e se eu fosse até lá! - dizia Paulo, perdendo a coragem e sentindo no peito pancadas que o forçavam a manter-se. Uma dessas pancadas foi tão forte que o fez oscilar e cair da soleira da porta, onde se mantinha, até junto dos pés de Natália.
- Natália, Natália, eu vim... põe-nos lá fora, a todos. Perdoa-me!... Não posso viver sem ti. Sou sozinho... sozinho... não se pode viver assim. Amo-te, sabes... amo-te... já te disse que te amava!... Tu és minha, que necessidade tens desses todos? Noite e dia, noite e dia vives na minha cabeça... Eu serei alegre... alegre... vou rir e falar muito, também...
Enlaçou-a.mergulhou a cabeça nos joelhos dela e balbuciou palavras abafadas, suplicantes e com uma tristeza tão profunda que de início a sua aparição acabrunhou toda a gente.
Natália tinha medo. Apoiou as costas à parede e, com o rosto violáceo, descomposto, agarrou-o pela cabeça e esforçou-se por o repelir com os joelhos e com as mãos, mas ele mantinha-se, como que petrificado no seu abraço e ela mexia os lábios transtornados com ar de impotência sem conseguir dizer uma palavra.
Mas de repente começou-se a ouvir no quarto um riso trocista. A rapariga morena tinha começado a rir e o seu riso foi imitado pelo homem fardado e depois pelo que tinha o ar de cozinheiro. Natália olhou para eles, estupefacta, depois olhou para Paulo e começou também a rir. Toda a mansarda estremecia com um gargalhar ruidoso, robusto, de quatro pessoas.
Espantado, esmagado por aqueles risos, Paulo sentou-se no chão, fixando um canto do aposento com o olhar parado. Era realmente cómico. O rosto, húmido de lágrimas que tinham parado nas depressões causadas pela varíola, tinha um aspecto que infundia pena, e os cabelos desalinhados, escapando por todos os lados da correia que os mantinha, formavam uma cabeleira fantástica, apalhacada; os olhos estupidificados, a boca aberta, a camisa a sair-lhe do avental de trabalho, e, finalmente, uma espécie de trapo sujo e molhado que se tinha agarrado a um dos
375
seus tamancos, todo esse conjunto não podia dar-lhe um aspecto trágico de molde a inspirar compaixão. Quatro vultos torciam-se de riso e ele, sentado no solo, perdido, silencioso e imóvel... Alguém verteu cerveja e um fio sinuoso correu na direcção de Paulo... A morena, num acesso de entusiasmo, atirou com um chapéu de mulher que, passando por cima da cabeça de Paulo, lhe foi cair nos joelhos... Ele pegou-lhe e pôs-se a examiná-lo com ar alucinado.
Isso ainda os fez rir mais. Gemiam, torciam-se... Paulo levantou-se... Era mais engraçado, e mais ainda ao dirigir-se para a porta. Uma vez ali, voltou-se, e apontando o braço armado com o chapéu, que então atirou para o chão na direcção de Natália, disse entre dentes:
- Vais ter... notícias minhas!
Saiu, perseguido por risos intermináveis.
- Isto é que é um herói - gritava um deles, com a voz velada pelas lágrimas. Ho! Ho! Ha!... Que animal! Ha! Ha! Eu não podia mais!... Ho! Ho!... E aquele trapo! Parecia um rabo! Ha! Ha!... Ha! Ha! Os cabelos... Aquela correia, parecia uma grinalda de noiva...
Fora, a chuva caía com um rolar de tambores, incessante e monótona. Estava-se no Outono.
A chuva não parou durante três dias, arrancando as últimas folhas amarelas
aos ramos negros e molhados. com uma melancólica submissão ao seu destino, as árvores balouçavam a alma sob as rajadas malévolas do vento glacial que se encarniçava à superfície da terra com tristeza e furor como se procurasse um objecto precioso. A chuva obstinada, persistente, e o vento a uivar infatigavelmente, compunham entre si ora um maravilhoso réquiem ao Verão defunto, ora uma saudação extremamente vibrante ao Inverno ressuscitado. Nuvens compactas, de um cinzento monótono, envolviam tão estreitamente o céu que dir-se-iam não quererem mais desenrolar-se, mostrá-lo à terra ensopada e gelada... O programa do quarto dia incluiu neve que dançava no ar ao sabor do vento, em grossos flocos húmidos por cima da cidade, procurando qualquer coisa; o vento mexia raivosamente, colando a
376
neve contra as paredes e em cima dos telhados em grandes placas brancas.
Na noite desse quarto dia Paulo atravessou o pátio com o andar de um homem livre de qualquer ocupação e preocupado com a limpeza das botas; depois de o atravessar, subiu a escada e parou diante da porta de Natália. Vestia um fato domingueiro, as roupas estavam limpas e o rosto calmo mas estranhamente emagrecido e cavado. Após um momento de reflexão bateu à porta e esperou que lhe abrissem, assobiando entre dentes de maneira quase imperceptível.
- Quem é? - perguntaram de dentro.
- Sou eu, menina Natália! - respondeu Paulo com voz serena forte.
- Ah!... - ouviu ele dizer; e a porta abriu-se.
- Boa noite! - cumprimentou Paulo tirando o boné.
- Boa noite! Então já te passou? Nunca imaginei que tivesses tanta graça. O que tu nos fizeste rir no outro dia! Vieste aqui num estado!... Parecia que tinhas andado a lavar o soalho! Ah!, se estivesses vestido como hoje!
- Desculpe-me, não tinha pensado nisso - disse Paulo com um sorriso mau, sem olhar de frente a interlocutora.
- Queres tomar o chá? vou aquecer o samovar.
- Não, menina Natália, não se incomode, já o tomei. Só então Natália notou a mudança de tratamento de
Paulo, e perguntou:
- Que quer dizer essa nova espécie de agradecimento? Deixaste de me tratar por tu?
Ao dizer isto ela sorriu e havia nela um certo desprezo. Agora, aos seus olhos, ele não se distinguia especialmente dos outros. Depois de se lhe ter arrastado aos pés em público, tinha perdido muito do seu encanto. Acontecia-lhe
às vezes baterem-lhe mais ou menos cruelmente por infidelidade, e ela esperava da parte dele uma reacção semelhante; mas ele tinha-se revelado diferente e, na sua opinião, essa diferença entre ele e os outros não inclinava a balança a favor dele. Quando se bate é porque se ama; e quando se ama verdadeiramente não é suficiente bater, mata-se e afronta-se tudo. Mas ele tinha-se-lhe lançado aos pés e chorado como uma mulherzinha. Isso não era viril,
377
e não era mesmo humano... Não se consegue uma mulher à força de lágrimas e de súplicas, toma-se de assalto, arranca-se seja a quem for; só então ela nos pertence. E mesmo assim...
Paulo suspirou e começou a falar:
- Não somos da mesma família. Havia amizade entre nós, mas acabou... Para que serve isso, então?
Natália estava estupefacta mas escondeu-o. Pensou que ele tinha vindo para cortar relações. Sentou-se na cama, perto dele, e esperou em silêncio o que se seguiria.
- Está escuro aqui, menina Natália. Devia acender um candeeiro...
- Está bem - disse ela, fazendo o que ele pedia. Ele prosseguiu olhando-a com ar pensativo.
- É a última vez que converso consigo, menina Natália. Não teremos outra ocasião de estar juntos e falarmos.
- Por quê? - perguntou ela, baixando os olhos.
Não sabia que atitude adoptar perante ele, e esperava o momento em que pudesse apanhar o tom que se impunha. Achava que ele tinha emagrecido muito
durante aqueles dias, e a calma pensativa que ele demonstrava admirava-a um pouco.
- Por que diz isso?
- Bem, porque sim. Chegou o momento. Pensei muito e decidi: é preciso acabar com isto. Para que serve? De qualquer maneira nada tenho a esperar de si.
Lançou a Natália um olhar interrogativo. Ela sentiu um certo remorso, primeiro dos dias passados juntos, depois do estado em que Paulo se encontrava. Ela via perfeitamente que na realidade ele estava aflito e abatido apesar da sua calma. Era mulher, apesar de tudo, e como mulher não podia deixar de ter pena desde que via diante de si alguém infeliz.
- Que quer dizer com isso? - começou ela, levantando-se e indo até ele. - Eu estou sempre pronta...
- Oh! Não vale a pena! - disse ele, repudiando aquela ideia, com um gesto. - Acabou. É um assunto arrumado. De resto tem razão, falando francamente não
378
sairia nada de bom da nossa vida em comum. Que marido seria eu? E amenina, que mulher? Esse é o problema.
Calou-se e ela continuava sem perceber onde ele queria chegar. A neve molhada batia nos vidros como se
quisesse prevenir ou lembrar qualquer coisa.
-Sim... efectivamente... isso daria para torto - murmurou ela, baixinho, sentindo que tinha cada vez mais pena do estado de Pauio e de outra coisa mais...
-é isso
mesmo!... Mas deixá-la assim, também me é impossível. Não posso. Trouxe-a durante tanto tempo no meu coração... e isso significava muito para mim... Digo-lhe uma vez mais, a menina era para mim a primeira pessoa no mundo. A primeira de todas. Consigo comecei,
pela primeira vez, a compreender a vida verdadeiramente. Significava muito para mim, não tinha preço. Digo-o abertamente: vivia no meu coração.
A voz começou a tremer; Natália sentiu que as lágrimas lhe corriam nas faces e não querendo que ele o percebesse voltou-se um pouco de lado.
-Vivia no meu coração! - articulou ele, uma vez mais. - Seria então possível que eu a abandonasse agora às brutalidades, às injúrias, ao lamaçal?... Nunca! Isso
também me é impossível. Que um ser humano que eu amo de todo o meu coração... que me é mais querido do que tudo... permitir que outros o caluniem? Isso não pode acontecer. Não posso consentir nisso, menina Natália, não posso...
Dizia aquilo, curvado, esforçando-se por não o olhar, e no tom de voz, além de uma ardente convicção, distinguia-se também qualquer coisa de suplicante, como se procurasse desculpar-se. Tinha a mão esquerda pousada no joelho, e a direita no bolso do casaco.
-Mas que fazer então?-perguntou ela, em voz baixa, contendo os soluços com dificuldade, e continuando a não o olhar.
- A solução!...
Tirou do bolso uma comprida faca e mergulhou-a no
flanco de Natália, estendendo o braço, firme e direito.
- Ai! - exclamou ela, voltando-se para ele; mas caiu em seguida abaixo da cama, abatendo-se-lhe aos pés.
379
Ele tomou-a nos braços, depô-la na cama, arranjou-lhe o vestido e examinou-lhe o rosto. Uma expressão de espanto marcava-o, endurecida: os sobrolhos estavam levantados, os olhos já embaciados ligeiramente enrugados, a boca entreaberta... e as faces inundadas de lágrimas.
Os nervos tensos de Paulo não suportaram mais. Soltou um profundo gemido e pôs-se a cobrir Natália de beijos ardentes e ávidos, soluçando e tremendo como num acesso de febre. Já estava fria. A neve batia contra a janela e o vento uivava na chaminé, fria e selvàticamente. Estava escuro, no quarto como lá fora... O rosto de Natália parecia uma simples mancha branca. Paulo ficou imóvel, inclinado para ela, e foi nessa posição que o encontraram no dia seguinte, à noite. Ninguém os impedira, durante vinte e quatro horas, ela de ficar estendida na sua cama, com uma faca no flanco esquerdo; ele, de chorar, com a cabeça no peito da morta, enquanto o vento de Outono, frio e húmido, lhe fazia eco atrás da janela.
Já era Primavera quando Paulo Aréfi Guibly teve de suportar o acto grandioso da justiça humana.
Pelas janelas do tribunal entrava alegremente o sol primaveril, forte e jovial, aquecendo cruelmente as calvas bem luzidias de dois jurados que, assim expostos, resistiam dificilmente à vontade de dormir; para o não demonstrarem aos colegas e ao público, eram forçados a inclinarem-se para a frente e a esticar o pescoço, o que lhes dava o ar de estarem muito absorvidos pelo desenrolar do processo.
Um dos membros do júri percorria com os olhos as fisionomias do público, e não encontrando, decerto, uma única inteligente, abanava a cabeça com ar desolado; um outro torcia os bigodes e observava com atenção o escrivão que aparava cuidadosamente o lápis.
O presidente acabava de pronunciar:
- Em virtude... dado que o acusado reconhece ter... proponho que se passe às testemunhas...
380
Voltou-se para o delegado do Ministério Público e perguntou:
- Não tem nada a...
O senhor com bigodes de barata teve um sorriso amável para o presidente e respondeu com sinceridade:
- Nada, nada!
- Senhor advogado de defesa, não tem nada...
O advogado não era menos franco que o Delegado e confessou também, com voz forte, a sua falta do que quer que fosse, o que, de resto, se lhe lia claramente no rosto.
- Acusado, não tem nada a declarar quanto à sua defesa?
O réu não tinha nada... Era obtuso e produzia uma impressão muito desagradável com o seu rosto bexigoso e imóvel.
Mas todos os três-o delegado, o defensor e o réu
- pregaram uma feia partida ao público, segundo pareceu, ao declararem que nada tinham a dizer.
O delegado tinha o poder de conferir ao rosto a expressão feroz de buldogue esfomeado, e uma forte tendência para a afectação; gostava sobretudo de aterrorizar os jurados fazendo-os pensar que se eles mostrassem benevolência perante o réu ele seria capaz de os estrangular a todos.
O advogado, durante as suas alegações, tinha o hábito de se assoar com ar de quem protesta, de eriçar pateticamente os cabelos e de abusar das palavras enternecedoras. Exclamou com voz forte, com eloquência, gravidade e indignação:
- Senhores jurados!
Pôs naquela exclamação todo o seu patético e a sua eloquência; a seguir abateu-se ele próprio, sem vergonha, porque todo o resto do seu discurso foi pálido, sem alma e não disse nada ao coração dos jurados.
O réu teve durante todo o tempo um pensamento secreto que revelou em voz alta logo que foi informado de que o enviariam doze anos para trabalhos forçados:
- Muito obrigado! - disse ele, com uma saudação ao presidente. Depois, em tom suplicante, com olhos cheios
de lágrimas, pediu: - Poderei visitar a campa dela, Excelência?
- como? - perguntou severamente o juiz.
- Ir ver a campa dela! - repetiu timidamente o condenado.
- Impossível! - gritou o presidente, fugindo para o corredor com passos miudinhos.
Dois soldados levaram o criminoso exactamente do modo como se levam sempre os criminosos ao sair do tribunal.
E é todo o romance.
Máximo Gorki
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















