



Biblio VT




Quase nada. Como uma picada de inseto que parece bem fraca no começo. Ao menos é o que você se diz, em voz baixa, para se tranquilizar. O telefone tocou por volta das quatro horas da tarde na casa de Jean Daragane, no quarto que ele chamava de “escritório”. Tinha adormecido no sofá do fundo, para se proteger do sol. E aquela campainha, cujo som ele perdera o costume de ouvir havia muito tempo, soava ininterruptamente. Por que tanta insistência? Talvez tivessem esquecido de desligar o fone do outro lado da linha. Por fim, resolveu se levantar e se dirigiu ao canto do quarto onde ficavam as janelas e o sol batia muito forte.
– Queria falar com o senhor Jean Daragane.
Uma voz suave e ameaçadora. Foi a primeira sensação que teve.
– Senhor Daragane? Está me ouvindo?
Daragane quis desligar. Mas por que fazê-lo? A campainha certamente voltaria a tocar, sem parar. A não ser que cortasse de vez o fio do telefone...
– Ele mesmo.
– É sobre a sua caderneta de endereços, senhor.
Ele a perdera no mês anterior, no trem em que viajava para a Côte d’Azur. Sim, só podia ter sido naquele trem. A caderneta provavelmente caíra do bolso do paletó quando ele tirou o bilhete dali para apresentá-lo ao fiscal.
– Encontrei uma caderneta de endereços com o seu nome.
Na capa cinza estava escrito: EM CASO DE PERDA, FAVOR DEVOLVER ESTA CADERNETA PARA. Daragane, um dia, maquinalmente, escrevera o seu nome ali, bem como o endereço e o número do telefone.
– Vou levá-la à sua casa. No dia e na hora que o senhor quiser.
Sim, com certeza uma voz suave e ameaçadora, com um tom beirando a chantagem.
– Prefiro que nos encontremos em algum outro lugar.
Esforçou-se para disfarçar o desconforto. Mas sua voz, que ele pretendia fosse indiferente, pareceu-lhe de repente apagada.
– Como o senhor quiser.
Houve um momento de silêncio.
– É uma pena. Estou bem perto da sua casa. Gostaria de lhe entregar em mãos.
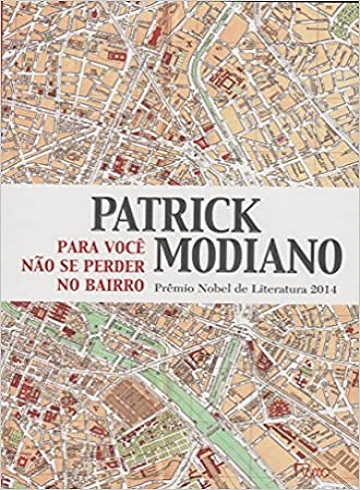
Daragane se perguntou se o sujeito já não estaria na frente do prédio, e se não ficaria ali à espreita, aguardando que ele saísse. Melhor se livrar o quanto antes.
– Vamos nos encontrar amanhã à tarde – disse, por fim.
– Se o senhor prefere assim... Só peço que seja perto do meu trabalho, para os lados da estação Saint-Lazare.
Quase bateu o telefone, mas conseguiu manter a frieza.
– Conhece a rua da Arcade? – perguntou o homem. – Podemos nos encontrar em um café. Na rua da Arcade, número 42.
Daragane anotou o endereço. Respirou fundo e disse:
– Combinado, senhor. No número 42 da rua da Arcade, amanhã, às cinco da tarde.
Desligou sem esperar a resposta do interlocutor. Logo em seguida, arrependeu-se de ter-se comportado de maneira tão grosseira, mas atribuiu-a ao calor que sufocava Paris havia alguns dias, um calor fora do normal para o mês de setembro. Um calor que reforçava a sua solidão. Obrigava-o a ficar trancado naquele quarto até o pôr do sol. Além disso, fazia meses que o telefone não tocava. E ele mesmo se perguntava quando fora a última vez que tinha usado também o celular, largado ali no escritório. Mal sabia utilizá-lo, cometendo sempre vários erros ao tocar nas teclas.
Se o sujeito desconhecido não tivesse telefonado, acabaria por esquecer para sempre a perda daquela caderneta. Tentou se lembrar dos nomes registrados nela. Na semana anterior, buscara resgatá-los de memória e começou a fazer uma lista numa folha em branco. A certa altura, rasgou a folha. Nenhum deles era de pessoas que realmente tiveram importância em sua vida, cujo endereço e número de telefone ele na verdade nunca precisara anotar, pois os sabia de cor. Naquela caderneta havia apenas conhecidos “do tipo profissional”, como costumamos dizer, alguns endereços supostamente úteis, no máximo trinta nomes. Entre eles, muitos já mereciam ter sido excluídos por desatualização. A única coisa que o preocupara por ter perdido a caderneta era o fato de haver registrado nela seu próprio nome e seu endereço. Logicamente podia interromper as coisas por ali e deixar aquele sujeito a esperá-lo sozinho infinitamente na rua da Arcade, 42. Mas, nesse caso, algo permaneceria no ar; uma ameaça. Em algumas tardes de profunda solidão, ele imaginava o telefone tocando e uma voz agradável a chamá-lo para um encontro. Recordava-se do título de um romance que havia lido: O tempo dos encontros. Talvez esse tempo ainda não tivesse passado para ele. Mas aquela voz, de poucos minutos antes, não lhe inspirava confiança. Sim, uma voz ao mesmo tempo suave e ameaçadora.
Pediu que o motorista do táxi o deixasse na Place de la Madeleine. Estava menos quente do que nos dias anteriores; podia-se caminhar na rua, desde que na calçada coberta pela sombra. Avançou pela rua da Arcade, deserta e silenciosa sob o sol.
Fazia uma eternidade que não passava por ali. Lembrou-se de que sua mãe atuava em um teatro daquela região e que o pai trabalhava em um escritório ao final da rua, do lado esquerdo, no número 73. Espantou-se de ainda trazer na memória o número 73. Mas, ao longo do tempo, todo esse passado se tornara translúcido... uma bruma a dissipar-se sob o sol.
O café ficava na esquina com o bulevar Haussmann. Um salão vazio, um balcão comprido encimado por prateleiras, como em um self-service ou em algum antigo Wimpy.[1] Daragane sentou-se a uma das mesas do fundo. Será que o sujeito apareceria? As duas portas, uma dando para a rua e a outra para o bulevar, estavam abertas por causa do calor. Do outro lado da rua, o edifício enorme do número 73... Pensou se alguma janela do escritório do pai daria para este lado. Qual era o andar? Mas essas recordações se lhe escapavam aos poucos, como bolhas de sabão ou lampejos de um sonho que se diluem ao despertar. Sua memória se revelaria mais viva se ele estivesse no café da rua dos Mathurins, na frente do teatro, onde costumava aguardar a mãe, ou então na área da estação Saint-Lazare, bastante frequentada por ele em outros tempos. Não. Nada disso. Já não era a mesma cidade.
– Senhor Jean Daragane?
Reconheceu a voz de imediato. Diante dele se apresentava um homem de seus 40 anos, acompanhado por uma moça mais nova.
– Gilles Ottolini.
A mesma voz, suave e ameaçadora. Apontou para a moça.
– Uma amiga minha... Chantal Grippay.
Daragane permaneceu na banqueta, imóvel. Nem sequer estendeu-lhe a mão. Os dois sentaram-se de frente para ele.
– Desculpe-nos o atraso...
Falou em tom irônico, provavelmente para tentar disfarçar algum embaraço. Sim, era a mesma voz, com um leve, quase imperceptível sotaque do Midi, o qual Daragane não havia notado na conversa da véspera ao telefone.
Pele cor de marfim, olhos negros, nariz aquilino. Um rosto muito fino, tanto de frente como de perfil.
– Aqui está o seu pertence – disse a Daragane, com o mesmo tom irônico, que parecia esconder algo incômodo. E tirou do bolso do paletó a caderneta de endereços.
Colocou-a sobre a mesa, encobrindo-a com a palma da mão, os dedos entreabertos. Dir-se-ia que assim visava impedir que Daragane a pegasse.
A moça mantinha o corpo um pouco mais para trás, como se não quisesse chamar atenção para si. Morena, cerca de 30 anos, cabelos não muito longos, usava camisa e calça pretas. Fitava Daragane com um olhar inquieto. Por causa das maçãs do rosto e dos olhos amendoados, ele especulava se ela não teria origem vietnamita ou chinesa.
– Onde o senhor a achou?
– No chão, debaixo de uma banqueta, no restaurante da estação de Lyon.
Estendeu-lhe a caderneta de endereços. Daragane guardou-a no bolso. Com efeito, lembrava-se de ter chegado à estação bem antes do horário previsto para a partida para a Côte d’Azur, e de que realmente se sentara no restaurante do primeiro andar.
– Quer beber alguma coisa? – perguntou-lhe o tal Gilles Ottolini.
Daragane sentiu vontade de partir. Mas mudou de ideia.
– Uma Schweppes.
– Procure alguém para anotar o nosso pedido. Para mim é um café – disse Ottolini, virando-se para a moça.
Esta se levantou imediatamente. Parecia acostumada a obedecer-lhe.
– O senhor deve ter ficado bem chateado por perder a caderneta...
Emitiu um sorriso estranho, que, para Daragane, parecia insolente. Mas talvez fosse fruto da timidez ou por se sentir sem jeito.
– Sabe de uma coisa? – perguntou Daragane. – Eu praticamente já não uso o telefone.
O outro o fitou com espanto. A moça voltava, retomando seu lugar à mesa.
– Não servem mais nada a esta hora. Estão fechando.
Era a primeira vez que Daragane ouvia a sua voz, uma voz rouca, sem o leve sotaque do Midi do vizinho de mesa. Era um sotaque, digamos, parisiense, se é que isso ainda significa alguma coisa.
– Você trabalha aqui perto? – perguntou Daragane.
– Em uma agência de publicidade, na rua Pasquier. A agência Sweerts.
– Você também?
Tinha se virado para a moça.
– Não – disse Ottolini, sem dar tempo de a moça responder. – No momento ela não está trabalhando.
De novo aquele sorriso crispado. E a moça também esboçou um sorriso.
Daragane queria sair logo dali. Conseguiria depois se livrar daquela dupla se não o fizesse de imediato?
– Vou ser sincero com o senhor... – e se inclinou na direção de Daragane, com a voz em tom mais agudo.
Daragane teve a mesma sensação da véspera, ao telefone. Isso mesmo. O sujeito era insistente como um inseto.
– Tomei a liberdade de folhear a sua caderneta... por mera curiosidade...
A moça virou o rosto, como se fingisse não ouvi-lo.
– Não fica chateado comigo, não é?
Daragane fitou-o diretamente nos olhos. O outro sustentou o olhar.
– Por que eu deveria ficar?
Um silêncio. O outro acabou baixando os olhos. Em seguida, com a mesma voz metálica:
– Vi na caderneta o nome de uma pessoa. E gostaria que o senhor me desse algumas informações sobre ela...
O tom agora ficara mais humilde:
– Desculpe-me a indiscrição.
– Que pessoa é essa? – perguntou Daragane, contrariado.
Sentiu de repente necessidade de se levantar e caminhar a passos rápidos em direção à porta que dava para o bulevar Haussmann, para respirar ao ar livre.
– Um tal de Guy Torstel.
Pronunciou o nome e o sobrenome destacando sílaba por sílaba, como se quisesse avivar a memória adormecida de seu interlocutor.
– Como?
– Guy Torstel.
Daragane tirou a caderneta do bolso e abriu-a na letra T. Leu o nome, bem no alto da página, mas aquele Guy Torstel não lhe evocava nada.
– Não faço ideia de quem seja.
– É mesmo?
O outro parecia decepcionado.
– Tem um número de telefone com sete algarismos – disse Daragane. – Deve ser pelo menos de uns trinta anos atrás...
Virou mais páginas. Todos os outros números de telefone eram atuais, com dez algarismos. E só havia cinco anos que usava aquela caderneta.
– Esse nome não lhe diz nada?
– Não.
Se fosse alguns anos atrás, ele demonstraria, nessa hora, aquela amabilidade que todos então lhe atribuíam, e diria: “Dê-me um tempinho para tentar esclarecer esse mistério...” Mas tais palavras, agora, não lhe ocorriam.
– É por causa de um caso policial sobre o qual reuni uma boa documentação – prosseguiu o outro. – Esse nome é citado nele. Por isso...
Subitamente, pareceu na defensiva:
– Que tipo de caso policial?
Daragane lançou a pergunta mecanicamente, como se resgatasse antigos reflexos condicionados de sua cortesia.
– Um caso bem antigo... Queria escrever um artigo sobre isso... No começo, era apenas jornalismo, sabe...
Mas a atenção de Daragane se dissipou. Precisava mesmo deixá-los o quanto antes, sob pena de ter de ficar ali ouvindo aquele homem lhe contar a sua vida inteira.
– Desculpe – disse. – Esqueci quem é esse Torstel... Na minha idade às vezes a gente tem lapsos de memória... Infelizmente preciso ir embora...
Levantou-se e apertou-lhes as mãos. Ottolini dirigiu-lhe um olhar duro, como se Daragane o tivesse injuriado e ele estivesse a ponto de replicar de maneira violenta. A moça, por sua vez, apenas baixou os olhos.
Caminhou rumo à porta de vidro aberta que dava para o bulevar Haussmann, esperando que o outro não lhe impedisse a passagem. Na rua, respirou fundo. Que ideia bizarra essa de marcar um encontro com um desconhecido, justamente ele que não se encontrava com ninguém havia três meses e que, aliás, não se sentia nem um pouco mal por causa disso... Ao contrário: nunca se sentira tão leve como nesse período de solidão, até com curiosos momentos de exaltação, de manhã ou de tarde, como se tudo ainda fosse possível e, lembrando o título de um velho filme, como se a aventura o aguardasse ali na esquina... Nunca antes, nem mesmo nos verões de sua juventude, a vida lhe parecera tão desprovida de peso como desde o início desse verão. Mas no verão tudo fica em suspenso – é uma estação “metafísica”, dizia antigamente o seu professor de filosofia, Maurice Caveing. Que estranho! Lembrou-se do nome “Caveing”, mas já não sabia quem era Torstel.
Ainda fazia sol, e uma brisa leve atenuava o calor. O bulevar Haussmann, àquela hora, estava deserto.
Passara por ali com alguma frequência nos últimos cinquenta anos, como também durante a infância, quando a mãe o levava à loja de departamentos Printemps, um pouco mais adiante no próprio bulevar. Nessa tarde, porém, a cidade lhe parecia estranha. Livrara-se de todas as amarras que ainda pudessem atrelá-lo a ela, ou, talvez, ela mesma é que o havia rejeitado.
Sentou-se num banco e tirou do bolso a caderneta de endereços. Preparou-se para rasgá-la e jogar o papel picado no saco de lixo de plástico verde ao lado do banco. Porém hesitou. Não. Faria isso depois, em casa, com calma. Folheou a caderneta distraidamente. De todos aqueles números, nenhum lhe despertava a mínima vontade de teclar. Além disso, nos dois ou três números ausentes, que tinham tido alguma importância e que ele sabia de cor, ninguém atenderia mais.
1. Rede de restaurantes fast-food surgida em Chicago, EUA, na década de 1930. [N. do T.]
Por volta das nove da manhã, o telefone tocou. Tinha acabado de acordar.
– Senhor Daragane? Gilles Ottolini.
A voz lhe pareceu menos agressiva do que na véspera.
– Desculpe-me por ontem... Tenho a impressão de tê-lo importunado...
Era um tom cortês, até de deferência. Sem aquela insistência de inseto que tanto incomodara Daragane.
– Ontem... queria ter corrido atrás do senhor na rua... O senhor saiu tão de repente...
Um silêncio. Mas, desta vez, não ameaçador.
– Li alguns livros seus, sabe? Em especial No escuro do verão...
No escuro do verão. Levou alguns segundos para se dar conta de que se tratava, sim, de um romance escrito por ele havia muito tempo. Seu primeiro livro. Tão distante...
– Gostei muito de No escuro do verão. Esse nome de que falamos, que consta da caderneta... Torstel... então, o senhor o utilizou em No escuro do verão.
Daragane não se lembrava disso, nem de nada do livro.
– Tem certeza?
– O senhor o menciona de passagem.
– Eu precisaria reler No escuro do verão. Mas já não tenho nenhum exemplar.
– Posso emprestar o meu.
O tom lhe pareceu mais seco, à beira da insolência. Mas talvez estivesse enganado. Depois de uma solidão tão prolongada – não falava com ninguém desde o começo do verão –, ficamos desconfiados e receosos diante de nossos semelhantes, arriscando-nos a cometer erros de avaliação em relação a eles. Não, eles não são tão maus assim.
– Não tivemos tempo, ontem, de entrar em muitos detalhes... Mas o que o senhor tanto quer desse tal Torstel?
Daragane recuperara sua voz normal, mais animada. Bastara falar com alguém. Um pouco como os movimentos da ginástica, que nos trazem a flexibilidade de volta ao corpo.
– Aparentemente, está envolvido em um antigo caso policial... Da próxima vez que nos encontrarmos, eu lhe mostrarei todos os documentos... Como lhe disse, estou escrevendo um texto sobre isso.
O sujeito, então, pretendia vê-lo novamente... Ora, por que não? Vinha-se mantendo reticente, já fazia algum tempo, diante da ideia de que novas pessoas pudessem entrar em sua vida. Em certos momentos, porém, ainda se sentia disponível. Dependia do dia. Por fim, disse:
– Então, como posso ajudá-lo?
– Vou viajar dois dias a trabalho. Telefono assim que voltar, e então marcamos um encontro.
– Como achar melhor.
Sua disposição mudara em relação ao dia anterior. Certamente fora injusto com o tal Gilles Ottolini; encontrara-o num dia ruim. Culpa do toque do telefone, que o arrancara brutalmente de um cochilo bem no meio da tarde. Um toque tão raro nos últimos meses que o amedrontara e lhe parecera tão ameaçador como se alguém estivesse batendo à sua porta em plena madrugada.
Não tinha vontade de reler No escuro do verão, até porque essa leitura poderia lhe dar a sensação de que o romance fora escrito por outra pessoa. Pediria a Gilles Ottolini apenas para fazer cópias das páginas que mencionassem Torstel. Isso já não bastaria para evocar nele alguma coisa?
Abriu a caderneta na letra T, sublinhou “Guy Torstel 423 40 55” com caneta esferográfica azul e acrescentou ao lado um ponto de interrogação. Tinha preenchido aquelas páginas copiando de uma caderneta mais antiga, excluindo os nomes de pessoas já falecidas e os números inválidos. Certamente Guy Torstel passara para aquele alto de página em um momento de desatenção. Seria necessário encontrar a caderneta antiga, de uns trinta anos atrás, para que sua memória sobre ele, quem sabe, se reavivasse em meio a outros nomes do passado.
Mas agora estava sem ânimo para remexer nos armários e nas gavetas. Menos ainda para reler No escuro do verão. Aliás, já fazia um bom tempo que suas leituras se limitavam a um único autor: Buffon. Reconfortava-se com sua obra, graças à limpidez do estilo, lamentando não ter sofrido nenhuma influência dela na sua própria obra: escrever romances cujos personagens fossem animais, até árvores ou flores... Se lhe perguntassem, agora, qual escritor ele sonharia em ser, responderia sem hesitação: um Buffon das árvores e das flores.
O telefone tocou à tarde, na mesma hora do primeiro dia. Pensou que fosse Gilles Ottoni novamente. Era, porém, uma voz feminina:
– Aqui é Chantal Grippay. O senhor se lembra de mim? Estivemos juntos ontem, com Gilles... Não quero incomodá-lo...
Uma voz fraca, distante. A linha estava com muito chiado.
Um silêncio.
– Senhor Daragane, preciso muito falar com o senhor. É sobre o Gilles...
A voz, agora, estava mais próxima. Aparentemente, a tal Chantal Grippay superara a timidez.
– Ontem à tarde, quando o senhor partiu, ele ficou com medo de que tivesse ficado aborrecido. Está agora em Lyon por dois dias, a trabalho. Podemos nos encontrar hoje no final da tarde?
O tom da voz de Chantal Grippay ganhara mais segurança, como um mergulhador que se joga na água depois de hesitar por alguns instantes.
– Estaria bem para o senhor lá pelas cinco horas? Moro na rua de Charonne, número 118.
Daragane anotou o endereço na mesma página em que estava o nome de Guy Torstel.
– Quarto andar, final do corredor. Meu nome está na caixa de correio do pátio. Aparece como Joséphine Grippay, mas troquei de nome...
– Rua de Charonne, 118. Seis da tarde... quarto andar – repetiu Daragane.
– Isso mesmo... Vamos conversar sobre o Gilles...
Depois que ela desligou, a frase que acabara de pronunciar, “vamos conversar sobre o Gilles”, ressoou na cabeça de Daragane como a chave de ouro de um soneto alexandrino. Precisava lhe perguntar por que ela mudara de nome.
Um prédio de tijolos mais alto e levemente recuado em relação aos outros. Daragane preferiu subir de escada os quatro andares, em vez de pegar o elevador. No final do corredor, na porta, um cartão de visita com o nome de “Joséphine Grippay”. O nome “Joséphine” estava rasurado, trocado com uma caneta de cor violeta por “Chantal”. Preparava-se para tocar a campainha, quando a porta se abriu. Estava toda de preto, como no dia anterior, no café.
– A campainha está quebrada. Ouvi os seus passos na escada.
Sorria parada no vão da porta. Parecia hesitar quanto a deixá-lo entrar.
– Se preferir, podemos beber alguma coisa em outro lugar – disse Daragane.
– Não, de jeito nenhum. Entre, por favor.
Um quarto de tamanho médio, com uma porta aberta à direita dando aparentemente para um banheiro. Do teto pendia uma lâmpada nua.
– Não é muito espaçoso, mas fica melhor para conversarmos.
Dirigiu-se a uma pequena escrivaninha de madeira clara encaixada entre as duas janelas, pegou a cadeira e colocou-a perto da cama.
– Sente-se, por favor.
Ela, de seu lado, sentou-se na beirada da cama, ou melhor, do colchão, pois não havia nenhum estrado.
– Este é o meu quarto... O Gilles achou uma coisa um pouco maior para ele no 17º,[2] na praça de Graisivaudan.
Tinha de erguer a cabeça para falar com ele. Daragane preferiria sentar-se no chão ou ao lado dela no colchão.
– O Gilles conta muito com a sua ajuda para fazer esse texto... Na verdade, já escreveu um livro, mas não teve coragem de lhe dizer...
Estendendo-se sobre o colchão, esticou o braço e pegou um volume de capa verde que estava sobre o criado-mudo.
– Aqui está... Não conte ao Gilles que eu lhe emprestei.
Um livro fino intitulado O passeante hípico, em cuja segunda capa se registrava ter sido publicado havia três anos pela editora Sablier. Daragane abriu o exemplar e deu uma olhadela no sumário. A obra se dividia em dois grandes capítulos: “Hipódromos” e “Escola de jóqueis”.
Ela o fitava com aqueles olhos levemente amendoados.
– É melhor ele não saber que nós dois nos encontramos.
Levantou-se, fechou uma das janelas, que estava entreaberta, e sentou-se novamente no colchão. Daragane teve a sensação de que ela fechara a janela para evitar que alguém os ouvisse.
– Antes de trabalhar na Sweerts, Gilles escrevia matérias sobre corridas e sobre cavalos em revistas e jornais especializados.
Hesitava, como alguém à beira de fazer uma confidência.
– Fez aula de hipismo em Maisons-Laffitte quando era jovem. Mas era difícil demais. Teve de largar. O senhor vai ver, se ler o livro...
Daragane a ouvia atentamente. Era estranho penetrar assim tão rápido na vida das pessoas... Achava que na sua idade isso nunca mais aconteceria, seja por certo enfastiamento da sua parte, seja por imaginar que com o tempo os outros vão sempre se afastando, aos poucos, de você.
– Ele me levou bastante a hipódromos. Ensinou-me a apostar. É um vício, sabe?
De repente, parecia triste. Daragane considerou que talvez buscasse nele algum apoio, moral ou material. E a gravidade dessas últimas palavras que lhe vieram à mente deu-lhe vontade de rir.
– Vocês continuam a apostar nos hipódromos?
– Cada vez menos, desde que ele começou a trabalhar na Sweerts.
Baixara o volume da voz. Talvez temesse que Gilles Ottolini entrasse de repente e os surpreendesse naquele quarto.
– Vou lhe mostrar as anotações que já fez para o texto... Talvez o senhor tenha conhecido todas essas pessoas...
– Que pessoas?
– Essa de quem ele lhe falou, por exemplo... Guy Torstel.
Inclinou-se novamente para pegar no criado-mudo uma pasta de cartolina azul-celeste. Abriu-a. Havia, ali, várias páginas datilografadas e um livro, que ela lhe deu: No escuro do verão.
– Prefiro que fique com ele – disse Daragane, secamente.
– Ele marcou aqui a página em que o senhor menciona esse Guy Torstel...
– Seria melhor fazer uma cópia... Isso me pouparia o trabalho de reler o livro.
Pareceu espantada com o fato de ele não querer reler seu próprio livro.
– Daqui a pouco vamos juntos fazer cópias também das anotações, para que o senhor possa levá-las.
Apontou para as páginas datilografadas.
– Mas isso tudo deve ficar entre nós...
Daragane se sentia tenso na cadeira. Tentando relaxar um pouco, passou a folhear o livro de Gilles Ottolini. No capítulo “Hipódromos”, deu de cara com uma palavra em letras maiúsculas: LE TREMBLAY. E essa palavra detonou algo em sua mente, sem que soubesse exatamente o quê, como se um detalhe esquecido lhe voltasse aos poucos à memória.
– É um livro interessante. O senhor verá...
Ergueu a cabeça na direção dele, sorrindo.
– Faz tempo que vocês moram aqui?
– Dois anos.
As paredes bege que não tinham sido pintadas certamente fazia anos, a pequena escrivaninha, as duas janelas que davam para o pátio... Ele tinha vivido em quartos iguaizinhos a esse quando tinha a idade de Chantal Grippay, e mesmo quando ainda mais jovem do que ela. Mas, na época, não era nesses bairros do lado leste. Era mais ao sul, na periferia do 14º ou do 15º distritos. E na parte noroeste da cidade, na mesma praça de Graisivaudan que ela mencionara, por uma misteriosa coincidência, minutos antes. E também ao pé da colina de Montmartre, entre as praças Pigalle e Blanche.
– Sei que Gilles lhe telefonou hoje de manhã antes de viajar para Lyon. Não disse nada de especial?
– Apenas que iríamos nos encontrar de novo.
– Estava com medo de o senhor se aborrecer...
Talvez Gilles Ottolini soubesse desse encontro de hoje. Poderia achar que ela seria mais convincente e conseguiria estimulá-lo a contar alguma coisa – como esses investigadores de polícia que se revezam ao longo de um interrogatório. Não, ele não tinha viajado para Lyon coisa nenhuma; estava ali mesmo, ouvindo a conversa atrás da porta. Essa ideia o fez sorrir.
– Desculpe a indiscrição, mas por que você mudou de nome?
– Acho Chantal mais simples do que Joséphine.
Disse-o seriamente, como se a mudança de nome tivesse sido fruto de uma longa reflexão.
– Quase ninguém mais se chama Chantal hoje em dia. De onde você tirou esse nome?
– Tirei de um calendário.
Ela pôs a pasta azul-celeste sobre a cama, junto ao corpo. Uma fotografia grande saiu um pouco para fora, entre o exemplar de No escuro do verão e as páginas datilografadas.
– Que foto é essa?
– É de uma criança... O senhor vai ver. Faz parte do dossiê.
Não lhe agradava a palavra “dossiê”.
– O Gilles obteve algumas informações sobre esse caso com a própria polícia... Conhecemos um tira que apostava nos cavalos... Ele fez uma busca nos arquivos... E achou também essa foto...
A voz ficara rouca de novo, como no outro dia no café – algo surpreendente numa mulher daquela idade.
– Posso? – perguntou Daragane. – Fico alto demais aqui, nesta cadeira.
Sentou-se então no chão, ao pé da cama. Agora estavam ambos à mesma altura.
– Mas assim o senhor fica mal acomodado... Sente-se aqui na cama mesmo...
Ela se inclinou na direção dele, e seu rosto ficou tão próximo que Daragane pôde observar uma pequenina cicatriz na face esquerda da moça. Le Tremblay. Chantal. Praça de Graisivaudan. Essas palavras ressoavam, circulavam em sua mente. Uma picada de inseto bem leve no início, mas depois provocando uma dor cada vez mais intensa e logo a sensação de uma ferida. Presente e passado agora se confundem, o que parece natural, já que estavam separados apenas por uma barreira de papel celofane – e basta a picada de um inseto para romper o celofane. Não saberia dizer em que ano foi, mas ele era bem jovem, em um quarto tão pequeno quanto esse, na companhia de uma moça chamada Chantal – um nome bastante comum naquela época. Como faziam habitualmente aos sábados, o marido daquela Chantal, um tal de Paul, e outros amigos deles tinham saído para jogar em alguns cassinos nas cercanias de Paris: Enghien, Forges-les-Eaux... e voltariam apenas no dia seguinte, com algum dinheiro. Ele, Daragane, e essa Chantal passavam a noite juntos no quarto da praça de Graisivaudan até que eles voltassem. Paul, o marido, também frequentava os hipódromos. Um jogador de verdade. Ousado. Para ele, as apostas eram todas no sistema martingale.
A outra Chantal – esta, a atual – levantou-se e abriu uma janela. O quarto estava ficando quente.
– Estou esperando um telefonema do Gilles. Não lhe direi que o senhor está aqui. Promete que irá ajudá-lo?
Teve mais uma vez a sensação de que ela e Gilles Ottolini tinham combinado não largá-lo em nenhum momento, marcando encontros cada um em uma hora diferente. Mas qual seria o objetivo? Ajudá-lo em que, exatamente? A escrever sobre o antigo caso policial a respeito do qual ele, Daragane, ainda não sabia nada? Talvez o “dossiê” – como dizia ela com insistência –, esse dossiê, ali, ao lado dela sobre a cama, na pasta de cartolina aberta, pudesse lhe trazer algum esclarecimento.
– Promete ajudá-lo?
Mais incisiva, agitava o dedo indicador. Ele ficou em dúvida quanto a se esse gesto era ou não uma ameaça.
– Desde que ele deixe claro o que quer de mim.
Do banheiro veio o som de uma campainha estridente de telefone, seguida de algumas notas musicais.
– Meu celular... Deve ser o Gilles...
Entrou no banheiro e fechou a porta, como se não quisesse que Daragane a ouvisse. Ele se sentou na beira da cama. Só agora notava um cabideiro preso à parede perto da entrada, no qual estava pendurado um vestido preto que lhe pareceu ser de seda. Em cada lado, abaixo dos ombros, estava bordada, com lamê dourado, uma andorinha. Zíper na altura dos quadris e nos punhos. Um vestido antigo, certamente comprado no mercado das pulgas. Imaginou-a com aquele vestido de seda preta, com as duas andorinhas amarelas.
Atrás da porta do banheiro, momentos prolongados de silêncio; a toda hora Daragane sentia que a conversa terminara. Mas então a ouvia dizer, com aquela voz rouca: “Não, eu prometo...”, e essa frase se repetia, duas, três vezes. Ouviu-a dizer também: “Não, isso não é verdade”; e: “É bem mais simples do que você imagina...” Aparentemente, Ottollini a criticava por algo, ou lhe expunha alguma preocupação. E ela buscava tranquilizá-lo.
À medida que a conversa se prolongava, Daragane teve vontade de sair dali, silenciosamente. Quando jovem, aproveitava toda e qualquer oportunidade para deixar as pessoas, sem que pudesse explicar a si mesmo o motivo: um anseio de ruptura e de respirar ao ar livre? Agora, porém, sentia necessidade de se deixar levar, sem impor resistências inúteis. Pegou na pasta de cartolina azul-celeste a fotografia que lhe chamara a atenção momentos antes. À primeira vista, tratava-se da ampliação de uma foto de identidade. Uma criança de cerca de 7 anos, cabelos curtos, como era costume usar no começo dos anos 1950. Mas podia ser também uma criança dos dias de hoje, vivemos uma época em que todas as modas, de anteontem, de ontem e de hoje, se misturam, e talvez agora esse tipo de corte de antigamente para os cabelos das crianças tivesse sido retomado. Precisava tirar isso a limpo; sentiu pressa de sair à rua e observar os cortes de cabelos das crianças.
Ela saiu do banheiro, com o celular na mão.
– Desculpe... Demorou, mas eu consegui fazer o moral dele subir um pouco. Às vezes o Gilles só consegue ver coisas ruins pela frente.
Sentou-se ao lado dele, na beirada da cama.
– É por isso que sua ajuda é necessária. Ele gostaria muito que o senhor lembrasse quem é esse Torstel... O senhor não faz nenhuma ideia?
De novo o interrogatório. Até que horas iria aquilo? Não conseguiria mais sair daquele quarto. Talvez ela tivesse até mesmo trancado a porta. Apesar disso, estava calmo, sentindo apenas um pouco de cansaço, como costumava lhe acontecer nos finais de tarde. Bem que gostaria de pedir para deitar um pouco naquela cama.
Um nome ressoava dentro da cabeça, sem que conseguisse se livrar dele. Le Tremblay. Um hipódromo do subúrbio, no sudeste, aonde Chantal e Paul o tinham levado em um domingo de outono. Paul trocara algumas palavras na tribuna com um homem mais velho do que eles e lhes explicara depois tratar-se de uma pessoa que ele às vezes encontrava no cassino de Forges-les-Eaux e que também frequentava os hipódromos. Esse homem se oferecera para lhes dar uma carona, no seu carro, na volta a Paris. Era realmente outono, não um veranico como este de agora, em que faz tanto calor no quarto e ele nem sabe muito bem quando poderá sair... Ela fechara a pasta azul-celeste, guardando-a sobre os joelhos.
– Precisamos fazer as fotocópias para o senhor... É perto daqui...
Ela consultou o relógio.
– O lugar fecha às sete horas. Temos tempo.
Mais tarde ele tentaria lembrar em que ano exatamente tinha sido aquele outono. Do parque do Tremblay eles seguiram pelo Marne e cruzaram o bosque de Vincennes ao cair da tarde. Daragane estava ao lado do homem que conduzia o carro, os outros dois no banco de trás. O homem parecera surpreso quando Paul fez as apresentações:
– Jean Daragane.
Falavam sobre algo qualquer, e também sobre a última prova no Tremblay. O homem perguntou:
– Seu nome é Daragane? Acho que conheci seus pais muito tempo atrás...
A palavra “pais” o surpreendeu. Tinha a sensação de nunca ter tido pais.
– Faz uns quinze anos... Numa casa perto de Paris... Lembro-me de uma criança...
O homem se voltou para ele.
– Suponho que essa criança seja você...
Daragane temia que lhe fizesse perguntas sobre um período de sua vida no qual ele já não pensava. Além disso, não teria muita coisa para dizer. Mas o outro ficou em silêncio. A certa altura, o homem comentou:
– Já não lembro onde ficava esse lugar, nas cercanias de Paris...
– Eu também não – respondeu Daragane, lamentando em seguida tê-lo feito de modo tão seco.
Sim, acabaria lembrando a data exata daquele outono. Por enquanto, porém, continuava sentado ali, na beira da cama, ao lado daquela Chantal, e parecia despertar de um cochilo repentino. Procurava retomar o fio da conversa.
– Você costuma usar muito esse vestido?
Apontou para o vestido de seda preto com as duas andorinhas amarelas.
– Quando aluguei o quarto, ele já estava aqui. Certamente era da outra locatária.
– Ou talvez tenha sido seu mesmo, em uma vida anterior.
Ela franziu a testa, fitou-o com um olhar desconfiado e disse:
– Acho que já podemos fazer as fotocópias.
Levantou-se, e Daragane teve a impressão de que ela queria deixar o quarto o mais rapidamente possível. O que a amedrontava? Talvez não devesse ter perguntado nada sobre o vestido preto.
2. Referência a um dos arrondissements ou distritos de Paris. [N. do T.]
Já em casa, perguntou a si mesmo se não tinha, na verdade, sonhado tudo aquilo. Certamente era culpa do calor daquele veranico.
Ela o levara a uma papelaria no bulevar Voltaire, no fundo da qual havia uma fotocopiadora. As folhas datilografadas eram finas, como aquele papel que se usava antigamente para mandar cartas em um envelope escrito “via aérea”.
Depois de sair do local, caminharam um pouco pelo bulevar. Dir-se-ia que ela não queria mais deixá-lo. Talvez temesse que, em se separando, ele não desse depois mais nenhum sinal de vida e assim Gilles Ottolini jamais soubesse quem era o misterioso Torstel. Mas também ele preferia ficar com ela, pois a perspectiva de voltar para casa sozinho lhe causava apreensão.
– Se o senhor ler o dossiê ainda esta noite, talvez consiga refrescar a memória... – apontando para a pasta de cartolina cor de laranja que ele agora trazia na mão com as fotocópias. Ela fizera questão de que até a foto do menino tivesse sido copiada.
– Pode me telefonar à noite, na hora que quiser. O Gilles só volta amanhã, na hora do almoço... Eu gostaria muito de saber o que o senhor acha de tudo isso...
Tirou da carteira um cartão de visita com o nome Chantal Grippay, o endereço – rua de Charone, 118 – e o número do celular.
– Preciso voltar para casa. O Gilles vai me ligar, e eu me esqueci de sair com o celular.
Tinham dado meia-volta e caminhavam na direção da rua de Charonne. Os dois calados. Não precisavam dizer nada. Ela parecia achar natural que caminhassem assim, lado a lado, e Daragane pensou que se pegasse no braço dela naquele momento ela se deixaria levar, como se já se conhecessem havia muito tempo. Despediram-se à entrada da escadaria da estação de metrô Charonne.
Agora, no seu escritório, ele folheia as páginas do “dossiê”, mas sem nenhuma vontade de lê-las de imediato.
Primeiro porque tinham sido datilografadas com um entrelinhamento mínimo, e aquela massa de letras amontoadas umas sobre as outras o desencorajava. Além disso, ele já identificara o tal Torstel. Na volta do Tremblay, naquele domingo de outono, o homem queria deixar cada um em sua respectiva casa. Chantal e Paul, porém, desceram em Montparnasse, onde havia uma linha de metrô direto para a casa deles. Ele ficou no carro porque o homem lhe disse que não morava muito longe da praça de Graisivaudan, onde ele, Daragane, ocupava aquele quarto.
Permaneceram em silêncio durante boa parte do trajeto. Por fim, o homem disse:
– Tive de ir umas duas ou três vezes a essa casa nas cercanias de Paris... Foi sua mãe quem me levou...
Daragane permaneceu em silêncio. Com efeito, evitava pensar nessa época tão distante de sua vida. E nem sequer sabia se a mãe ainda estava viva.
O outro parou o carro na altura da praça de Graisivaudan.
– Dê lembranças à sua mãe... Há muito tempo não nos vemos. Fazíamos parte de uma espécie de clube, com outros amigos. O Clube das Crisálidas. Fique com isso, caso ela queira me procurar...
Estendeu-lhe um cartão de visita em que estava escrito “Guy Torstel” e – pelo que ele se recorda – um endereço profissional – uma livraria na área do Palais-Royal. Bem como um número de telefone. Logo depois, Daragane perdeu esse cartão. Mas tinha-o registrado – por quê? – na caderneta de endereços que usava naquela época.
Sentou-se à escrivaninha. Sob o “dossiê” estava a fotocópia da página 47 do seu romance No escuro do verão, em que se mencionava o tal Guy Torstel. O nome estava sublinhado, provavelmente por Gilles Ottolini. Ele leu:
“Na galeria de Beaujolais, havia uma livraria com uma vitrine cheia de livros de arte. Entrou ali. Uma mulher morena estava sentada a uma escrivaninha.
– Queria falar com o senhor Morihien.
– O senhor Morihien não está – disse ela. – Gostaria de falar com o senhor Torstel?”
E só. Nada demais. O nome só aparecia nessa página do romance. E ele não tinha ânimo algum, nessa noite, para procurá-lo nas páginas datilografadas com aquele entrelinhamento mínimo do “dossiê”. Torstel. Uma agulha no palheiro.
Recordava-se de que no cartão de visita perdido havia o endereço de uma livraria, no Palais-Royal. Talvez o número de telefone fosse dessa livraria. Mas, passados quarenta e cinco anos, esses pequenos detalhes não bastariam para lhe fornecer a pista de um homem que agora não passava de um nome.
Deitou-se no sofá e fechou os olhos. Decidiu se esforçar para reconstituir, nem que fosse por um instante, a passagem do tempo. Era outono quando começara a escrever No escuro do verão, o mesmo outono em que, num domingo, fora ao Tremblay. Lembrou-se de ter escrito a primeira página do romance na noite daquele domingo, no quarto da praça de Graisivaudan. Algumas horas antes, quando o carro de Torstel avançava pela beira do Marne para depois cruzar o bosque de Vincennes, ele realmente sentira a presença do outono: a bruma, o cheiro de terra molhada, as aleias forradas de folhas mortas. Desde então, o nome Tremblay sempre estivera associado, para ele, a esse outono.
Assim como o nome Torstel, usado no livro tão somente por causa da sua sonoridade. Era isso o que Torstel evocava nele. Não precisava buscar mais longe. Era tudo o que ele podia dizer. Gilles Ottolini provavelmente ficaria decepcionado. Problema dele. Afinal, não era obrigado a lhe dar explicação alguma. Isso tudo não tinha nada que ver com ele.
Quase onze da noite. Sozinho em casa, nessa hora, frequentemente sentia aquilo que se costuma chamar de “baixo-astral”. Então, ia a um café das proximidades que ficava aberto até tarde. Depois de algum tempo, a iluminação forte, o burburinho, a movimentação das pessoas e as conversas de que tinha a fantasia de participar levavam-no a vencer o baixo-astral. De uns tempos para cá, porém, podia dispensar esse expediente. Bastava olhar pela janela do escritório a árvore plantada no pátio do prédio vizinho, que se mantinha coberta de folhas por muito mais tempo do que as outras, até novembro. Tinham-lhe dito que era uma espirradeira, ou um álamo, já não sabia. Lamentava os anos que perdera sem dar muita atenção às árvores ou às flores – justamente ele, que agora só lia a História natural de Buffon. Súbito se lembrou de um trecho das memórias de uma filósofa francesa que ficara chocada com uma frase dita por uma mulher durante a guerra: “O que você quer? A guerra não muda em nada a minha relação com a folhinha de uma erva.” A filósofa certamente considerava essa mulher uma pessoa frívola e indiferente a tudo, mas para ele, Daragane, a frase tinha outro sentido: em períodos cataclísmicos ou de miséria moral, o único recurso possível para não despencar ladeira abaixo é buscar algum ponto fixo, a fim de manter o equilíbrio. O olhar se fixa, então, na tal folhinha de uma erva qualquer – pode ser uma árvore, as pétalas de uma flor –, como se você se agarrasse a uma boia de salvação. Aquela espirradeira – ou álamo –, atrás do vidro da janela, o tranquiliza. Apesar de ser quase onze horas da noite, a sua presença silenciosa o reconforta. Melhor, então, acabar com isso de uma vez e ler as páginas datilografadas. Precisava admitir: no início, pela voz e pela aparência, Gilles Ottolini lhe parecera um chantagista. Tentaria superar esse prejulgamento. Mas será que conseguiria mesmo fazer isso?
Tirou o clipe que juntava as páginas. O papel das fotocópias era diferente do original. Lembrou-se de como as folhas lhe pareciam finas e transparentes à medida que Chantal Grippay fazia as cópias. Evocavam, para ele, o papel que se usava antigamente para as cartas “via aérea”. Mas também não era exatamente isso. Elas tinham, mais precisamente, a transparência do papel de seda usado nos interrogatórios de polícia. Aliás, a própria Chantal Grippay havia dito: “O Gilles conseguiu obter informações da polícia...”
Lançou um último olhar na direção da copa da árvore à sua frente e começou a leitura.
As letras eram minúsculas, como se alguém as tivesse datilografado com uma dessas máquinas de escrever portáteis que já não existem hoje em dia. Daragane tinha a sensação de mergulhar em um caldo compacto e indigesto. Às vezes pulava uma linha e precisava voltar para trás, com a ajuda do dedo indicador. Mais do que um relatório homogêneo, tratava-se de notas muito curtas, colocadas numa sequência desordenada, sobre o assassinato de uma certa Colette Laurent.
As notas recompunham a sua trajetória. Chegada a Paris, vinda do interior, bem jovem. Emprego em uma casa noturna da rua de Ponthieu. Quarto em um hotel no bairro do Odéon. Convive com os alunos da Escola de Belas-Artes. Relação de pessoas interrogadas e que ela poderia ter conhecido na boate, relação de alunos da Belas-Artes. Corpo encontrado em um quarto de hotel do 15º distrito. Depoimento do dono do hotel.
Então era esse o caso policial pelo qual Ottolini se interessava tanto? Interrompeu a leitura. Colette Laurent. Esse nome, aparentemente anódino, causava alguma reverberação dentro dele, ainda que leve demais para que pudesse defini-la. Parecia-lhe ter lido o ano: 1951; mas não tinha ânimo de checar isso naquele emaranhado de palavras, tão comprimidas umas contra as outras que davam uma sensação de sufocamento.
1951. Passou-se mais de meio século, e as testemunhas desse caso policial já estão mortas, assim como o próprio assassino. Gilles Ottolini chegou tarde demais. Esse bisbilhoteiro não conseguirá matar sua sede. Daragane se arrependeu de tê-lo chamado assim, de modo tão grosseiro. Leu mais algumas páginas. Continuava sentindo aquele nervosismo e aquela apreensão que tinham tomado conta dele ao abrir o “dossiê”.
Contemplou a copa da espirradeira, que se movia lentamente, como se estivesse a respirar durante o sono. Sim, essa árvore era sua amiga, e ele se recordou do título de uma coletânea de poemas publicada por uma menina aos 8 anos: Árvore, minha amiga. Sentira inveja dessa menina, porque tinha a mesma idade que ela e também escrevia poemas naquela época. Em que ano fora aquilo? Um ano de sua infância quase tão distante quanto o ano de 1951, em que Colette Laurent tinha sido assassinada.
Dançavam de novo sob seus olhos as letras minúsculas com entrelinhamento mínimo. Para não se perder, deslizava o indicador sobre elas. Finalmente aparece o nome Guy Torstel. Está associado a outros três nomes, entre os quais ele tem a surpresa de reconhecer o de sua própria mãe. Os outros dois eram: Bob Bugnand e Jacques Perrin de Lara. Lembrava-se vagamente deles, e isso remontava também àquela época distante em que a menina com a mesma idade que a dele publicara Árvore, minha amiga. O primeiro, Bugnand, tinha um corpo atlético e vestia-se de bege; moreno, achava ele. O outro, um homem de cabeça enorme, como de uma estátua romana, costumava se apoiar no mármore da lareira, numa pose elegante, para falar. As recordações da infância são formadas muitas vezes por pequenos detalhes que se destacam no meio do nada. Teriam esses nomes chamado a atenção de Ottolini, e este então estabelecera uma relação entre eles e ele, Daragane? Não, é claro que não. Para começar, sua mãe não usava o mesmo sobrenome que ele. Além disso, os outros dois, Bugnand e Perrin de Lara, tinham-se perdido na noite dos tempos, e Ottolini era jovem demais para que pudessem evocar alguma coisa nele.
À medida que avançava na leitura, via o “dossiê” como uma espécie de quarto de despejo onde se misturavam fragmentos de duas investigações diferentes, não realizadas no mesmo ano; pois, agora, aparecia o ano de 1952. Entre as notas de 1951 referentes ao assassinato de Collete Laurent e as que figuravam nas duas últimas páginas do “dossiê”, ele conseguiu no entanto captar um pequenino fio condutor: “Colette Laurent” frequentara “uma casa em Saint-Leu-la-Forêt” onde vivia “uma certa Annie Astrand”. Essa casa estava sob permanente vigilância policial – mas por que razão? Em meio aos nomes mencionados havia o de Torstel, o de sua mãe, o de Bugnand e o de Perrin de Lara. Outros dois também não lhe eram desconhecidos: Roger Vincent e, sobretudo, o da mulher que morava na casa de Saint-Leu-la-Forêt, “uma certa Annie Astrand”.
Gostaria de pôr alguma ordem nessas notas confusas, mas a tarefa lhe parecia acima de suas forças. Além disso, nessa hora tardia da noite costumam surgir ideias esquisitas: o alvo que Ottolini tinha em mente ao reunir todas as notas de seu dossiê não era, na verdade, um antigo caso policial, mas sim ele próprio, Daragane. Com certeza Ottolini ainda não encontrara o ângulo correto do tiro; ensaiava, perdia-se em atalhos, incapaz de atingir o cerne da questão. Sentia-o rondando ao redor, em busca de alguma via de acesso. Talvez tivesse reunido esses elementos disparatados na expectativa de que Daragane reagisse a algum deles, como os investigadores de polícia que começam um interrogatório com assuntos sem nenhuma relevância, para com isso arrefecer aos poucos a postura defensiva do suspeito. Então, quando este se sente seguro, atacam brutalmente com a pergunta fatal.
Seus olhos se voltaram novamente para a copa da espirradeira do outro lado da janela; sentiu vergonha desses pensamentos. Estava perdendo o sangue-frio. As poucas páginas que tinha acabado de ler não passavam de um rascunho desacorçoado, uma porção de detalhes a esconder o essencial. Somente um nome o perturbava, com um efeito magnético: Annie Astrand. Mas ele era quase ilegível em meio àquelas palavras amontoadas com um entrelinhamento mínimo. Annie Astrand. Uma voz distante, captada no rádio, tarde da noite, que você sente se dirigir a você para lhe transmitir alguma mensagem. Tinha ouvido de alguém, um dia, que costumamos esquecer muito rapidamente as vozes daqueles que estiveram próximos de nós no passado. No entanto, se ouvisse agora a voz de Annie Astrand atrás dele, na rua, tinha certeza de que a reconheceria.
Quando se reencontrar com Ottolini, tomará cuidado para não chamar a atenção dele para esse nome: Annie Astrand. Mas não tem nem mesmo certeza de que o verá de novo. Se for o caso, apenas lhe mandará uma mensagem breve com as informações mirradas de que dispõe sobre Guy Torstel. Um homem que cuidava de uma livraria na galeria de Beaujolais, numa das laterais do jardim do Palais-Royal. Sim, só estivera com ele uma vez, cerca de cinquenta anos atrás, na noite de um domingo de outono, no Tremblay. Por uma questão de gentileza, poderia até mesmo lhe fornecer alguns detalhes complementares sobre os dois outros nomes, Bugnand e Perrin de Lara. Amigos de sua mãe, como também devia ser esse Guy Torstel. Naquele mesmo ano em que lera os poemas de Árvore, minha amiga, quando então sentira tanta inveja da menina que era sua autora, Bugnand e Perrin de Lara – talvez também o próprio Torstel – andavam sempre com um livro no bolso, como um missal, um livro ao qual pareciam dar enorme importância. Lembrava-se do título: Fabrizio Lupo. Certo dia, Perrin de Lara lhe dissera, com voz grave: “Quando crescer, você também irá ler Fabrizio Lupo.” Uma dessas frases que, devido ao seu impacto sonoro, ficam para sempre, misteriosas, em nossa vida. Muitos anos depois, ele procurou essa obra, mas, por azar, nunca conseguiu encontrá-la, e acabou não lendo, portanto, Fabrizio Lupo. Não precisaria mencionar todas essas recordações minúsculas. A perspectiva mais verossímil era que acabaria se livrando de Gilles Ottolini. Toques de telefone que ele não atenderia mais. Cartas, algumas registradas. O que mais incomodaria é que Ottolini ficaria plantado ali diante do prédio e, como não conhecia o código do portão, esperaria que alguém o abrisse, para entrar atrás. Subiria para tocar a campainha do apartamento. Seria melhor, então, desativar a campainha. Toda vez que saísse de casa, daria de cara com Gilles Ottolini, que o abordaria e o seguiria na rua. E ele não teria alternativa além de se refugiar em alguma delegacia de polícia. Mas os policiais não levariam a sério as suas explicações.
Quase uma hora da manhã. Considerou que numa hora como essa, em meio ao silêncio e à solidão, costumamos exagerar as coisas. Procurou se acalmar aos poucos. Chegou a dar uma gargalhada ao pensar no rosto de Ottolini, um rosto tão estreito, fino, que não se sabe quando está de frente ou de perfil.
As páginas datilografadas se espalhavam sobre a escrivaninha. Pegou um lápis com uma ponta vermelha e outra azul, usado para corrigir seus manuscritos. Começou a riscar as páginas, uma após outra, com grandes traços azuis, enquanto envolvia num círculo vermelho o nome ANNIE ASTRAND.
Eram cerca de duas horas da madrugada quando o telefone tocou. Adormecera no sofá.
– Alô... senhor Daragane? É Chantal Grippay...
Hesitou por um instante. Acabara de ter um sonho em que o rosto de Annie Astrand aparecia, e isso não lhe acontecia havia mais de trinta anos.
– Leu as fotocópias?
– Sim.
– Desculpe-me por telefonar tão tarde... mas estava tão ansiosa para ter a sua opinião... Está me ouvindo?
– Sim.
– Precisamos nos encontrar antes da volta do Gilles. Posso passar em sua casa?
– Agora?
– Sim. Agora.
Passou-lhe o endereço, o código do portão e o andar. Será que ainda sonhava? Poucos minutos atrás o rosto de Annie Astrand lhe parecia tão próximo... Ela estava ao volante do automóvel, na frente da casa em Saint-Leu-la-Forêt; ele se sentava ao lado dela, que lhe falava algumas coisas, mas ele não escutava o som de sua voz.
Sobre a escrivaninha, as fotocópias desordenadas. Esquecera que as tinha rabiscado com lápis azul. E o nome Annie Astrand saltava aos olhos por causa do círculo vermelho... Precisaria evitar que Gilles Ottolini visse aquilo. O círculo vermelho poderia lhe dar alguma pista. Com efeito, depois de virar as páginas lentamente e dar com aquilo, qualquer investigador de polícia perguntaria:
– Por que o senhor destacou este nome?
Olhou para a espirradeira, cuja copa estava imóvel, e isso o acalmou. A árvore era uma sentinela, a única pessoa que velava por ele. Colocou-se junto à janela que dava para a rua. Nenhum veículo circulava nessa hora; os postes de luz brilhavam à toa. Viu Chantal Grippay andando na calçada em frente, parecendo buscar pelos números dos prédios. Trazia na mão um saco plástico. Perguntou-se se ela teria vindo a pé desde a rua Charonne. Ouviu o portão do prédio bater com força lá embaixo e em seguida os seus passos na escada, passos lentos, como se ela hesitasse em subir. Antes que tocasse a campainha, ele abriu a porta. Ela se assustou. Novamente vestia camisa e calça pretas. Pareceu-lhe tão tímida como na primeira vez, no café da rua Arcade.
– Não queria incomodá-lo tão tarde...
Permanecia imóvel sob a moldura da porta, com jeito de quem pede desculpas. Pegou-a pelo braço para que entrasse, pressentindo que, caso contrário, ela daria meia-volta. No cômodo usado como escritório, indicou-lhe o sofá, onde ela se sentou, deixando o saco plástico bem ao lado do corpo.
– E então, o senhor leu?
Fez a pergunta com uma voz cheia de ansiedade. Por que dava tanta importância àquilo?
– Li. Mas realmente não posso ajudar o seu amigo. Não conheço essas pessoas.
– Nem mesmo Torstel?
Fitou-o com firmeza, diretamente nos olhos.
O interrogatório recomeçaria e iria até a manhã seguinte, sem interrupções. Depois, por volta das oito horas, alguém tocaria a campainha. Seria Gilles Ottolini, voltando de Lyon para rendê-la.
– Sim, nem mesmo Torstel.
– Por que então usar esse nome em um livro se o senhor não o conhecia?
Adotava um tom falsamente ingênuo.
– Escolho os nomes ao acaso, folheando a lista telefônica.
– Então o senhor não tem como ajudar o Gilles?
Sentou-se ao seu lado no sofá, aproximando o rosto do dela. Viu novamente a cicatriz na face esquerda.
– Ele gostaria que o senhor o ajudasse a escrever... Achava que essas coisas todas que constam dessas páginas o tocavam muito de perto...
Teve nesse instante a sensação de que os papéis começavam a se inverter e que faltava pouco para ela “abrir o bico”, conforme a expressão que ele ouvira tempos atrás em certo ambiente. Sob a luz da lâmpada, observou as olheiras e um tremor nas mãos dela. Pareceu-lhe mais pálida do que no momento em que lhe abrira a porta.
Na escrivaninha, bem visíveis, repousavam as páginas que havia rasurado com lápis azul. Mas ela não tinha notado nada.
– O Gilles leu todos os seus livros e informou-se sobre o senhor...
Tais palavras provocaram nele uma leve inquietação. Tivera o azar de atrair para si a atenção de uma pessoa que de agora em diante não o largaria mais. Como acontece, às vezes, com certas pessoas com quem você teve apenas uma troca de olhares. De repente, sem motivo algum, podem se tornar agressivas, ou se dirigir a você para dizer alguma coisa, e é muito difícil se livrar delas. Na rua, ele sempre se forçava a andar olhando para baixo.
– Além disso, a agência Sweerts está pensando em demiti-lo... Vai ficar desempregado de novo...
Daragane sentiu-se surpreso diante do tom de exaustão com que ela se exprimia, e acreditou captar nele também um toque de irritação, até um pouco de desprezo.
– Ele achava que o senhor o ajudaria... Tem a impressão de conhecê-lo há muito tempo... Sabe muita coisa sobre o senhor...
Aparentemente, queria falar mais. Aproximava-se aquela hora da noite em que as maquiagens se desmancham e nos entregamos ao embalo das confidências.
– Quer beber alguma coisa?
– Sim, alguma coisa bem forte... Preciso chacoalhar esta carcaça...
Daragane ficou espantado com o fato de ela, naquela idade, usar uma expressão tão antiquada. Fazia muito tempo que não ouvia a expressão “chacoalhar a carcaça”. Talvez Annie Astrand a utilizasse antigamente. Ela mantinha as mãos apertadas uma na outra, como se tentasse conter a tremedeira.
No armário da cozinha, encontrou apenas uma garrafa de vodca pela metade, e ainda se perguntou quem a teria deixado ali. Ela se sentara no sofá, as pernas esticadas, as costas apoiadas na enorme almofada laranja.
– Desculpe, mas estou um pouco cansada...
Bebeu um gole. E logo outro.
– Agora está melhor. Essas noitadas são terríveis...
Olhou para Daragane como se quisesse tomá-lo como testemunha de algo. Ele hesitou por um instante, antes de lhe fazer a pergunta:
– Que noitadas?
– Essa de onde estou vindo...
Em seguida, em tom seco:
– Sou paga para ir a essas “noitadas”... Faço pelo Gilles... Ele precisa de dinheiro...
Abaixou a cabeça. Parecia se arrepender de ter dito isso. Voltou-se para Daragane, que estava sentado no pufe de veludo verde de frente para ela.
– Não é a ele que o senhor deveria ajudar... mas a mim...
Dirigiu-lhe um sorriso que se poderia considerar pálido ou pobre.
– Sou uma moça honesta... Então, eu deveria alertá-lo em relação ao Gilles...
Mudou de posição, sentando-se na beira do sofá para falar-lhe face a face.
– Ele ficou sabendo coisas sobre o senhor... com esse amigo da polícia... Então, tentava entrar em contato...
Seria o cansaço? Daragane já não entendia o que ela dizia. Que “coisas” poderiam ser essas que aquele sujeito teria obtido da polícia sobre ele? De todo modo, as páginas do “dossiê” não eram conclusivas. E quase todos os nomes citados eram desconhecidos dele. Com exceção de sua mãe, de Torstel, de Bugnand e de Perrin de Lara. E esses, mesmo assim, de forma tão distante... Tiveram um peso tão insignificante em sua vida... Figurantes apenas, mortos havia muito tempo. Sim, também se mencionava Annie Astrand, mas pouquíssimo. Seu nome passava totalmente despercebido, encoberto pelos demais. E, ainda por cima, com um erro ortográfico: Astran.
– Não se preocupe comigo – disse Daragane. – Não tenho medo de ninguém. Muito menos de chantagistas.
Pareceu surpresa com o fato de ele empregar essa palavra: chantagista. Como se fosse uma obviedade na qual ela não havia pensado.
– Sempre tive dúvida de se ele na verdade não tinha roubado do senhor a caderneta de telefones...
Sorriu, e Daragane pensou que ela estivesse brincando.
– Às vezes tenho medo do Gilles... Por isso é que continuo com ele... A gente se conhece há muito tempo...
A voz ficava cada vez mais rouca. Ele temia que aquelas confidências durassem até a manhã seguinte. Conseguiria manter-se atento para ouvi-las até o fim?
– Ele não foi a Lyon a trabalho, mas sim para jogar no cassino...
– O Cassino de Charbonnières?
A frase lhe veio muito rapidamente, e ele próprio se espantou com essa palavra: “Charbonnières”. Tinha-a esquecido, e ela agora ressurgia do passado. Quando iam jogar no Cassino de Charbonnières, Paul e os outros saíam de Paris no começo da tarde da sexta-feira e só voltavam na segunda-feira. Isso então significava passar três dias com Chantal no quarto da praça de Graisivaudan.
– Sim, ele foi para o Cassino de Charbonnières. Conhece um crupiê de lá... Sempre volta do Cassino de Charbonnières com um pouco mais de dinheiro do que o normal.
– E você não o acompanha?
– Nunca. Só no começo, logo depois que nos conhecemos. Eu o esperava horas e horas no círculo Gaillon... Havia lá uma sala de espera para as mulheres...
Daragane tinha entendido bem? Assim como “Charbonnières”, o nome “Gaillon” lhe fora muito familiar em outros tempos. Chantal chegava de repente no quarto da praça Graisisvaudan para ficar com ele e dizia: “Paul está no círculo Gaillon... Podemos ficar juntos agora e até passar a noite inteira...”
Quer dizer que o círculo Gaillon ainda existia? Ou seria apenas uma dessas palavras insignificantes que ouvimos na infância e que retornam, como uma cantiga ou um balbucio, muitos anos depois, já perto do fim de nossa vida?
– Quando fico aqui em Paris sozinha, obrigam-me a participar de umas noitadas meio especiais... Aceito isso por causa do Gilles... Está sempre precisando de dinheiro... E agora será pior ainda, pois ele vai perder o emprego...
Mas por que, afinal, ele entrara na intimidade de Gilles Ottolini e de Chantal Grippay? Antigamente, conhecer gente nova lhe ocorria sempre de forma brutal e direta – duas pessoas que se chocam na rua, como os carrinhos de bate-bate de sua infância. Neste caso, tudo acontecera lentamente, uma caderneta de endereços perdida, vozes ao telefone, um encontro em um café... Sim, tudo tinha a leveza de um sonho. Também as páginas do “dossiê” haviam provocado nele uma sensação estranha: por causa de alguns nomes, sobretudo o de Annie Astrand, e de todas aquelas palavras amontoadas umas sobre as outras com um entrelinhamento mínimo, ele se via bruscamente confrontado com alguns detalhes de sua vida – refletidos, no entanto, em um espelho deformante –, desses detalhes desordenados que costumam nos perseguir nas noites de febre.
– Ele volta de Charbonnières amanhã... perto do meio-dia... Vai importuná-lo de novo... Não lhe diga de modo algum que nos encontramos.
Daragane se perguntava se estava sendo sincera ou se na verdade ela mesma informaria Ottolini desse encontro em sua casa nesta noite. Isso se não tinha sido ele próprio, Ottolini, que a encarregara dessa missão. De qualquer maneira, tinha certeza de que conseguiria se livrar deles rapidamente na hora que quisesse, como já fizera com muitas outras pessoas ao longo da vida.
– Em resumo – disse, com um ar meio brincalhão –, vocês formam um casal de bandidos.
Pareceu chocada diante dessas palavras. Ele logo se arrependeu. Ela curvara o corpo, e ele, por um momento, achou que fosse chorar. Inclinou-se na sua direção, mas ela evitou o seu olhar.
– Isso tudo é por causa do Gilles... Eu não tenho nada a ver com isso...
Em seguida, após um momento de hesitação:
– Cuidado com ele... Vai querer encontrá-lo todos os dias... Não vai lhe deixar respirar nem um segundo... É do tipo...
– Pegajoso...
– Sim. Muito pegajoso.
E ela parecia atribuir a esse adjetivo um significado mais preocupante do que ele poderia ter inicialmente.
– Não sei o que ele sabe sobre o senhor... Talvez alguma coisa que esteja no dossiê... Eu não o li... Ele o usará como meio de pressão...
Essa última expressão soava falsa em sua boca. Certamente fora Ottolini quem lhe falara de “meio de pressão”.
– Quer que o senhor o ajude a escrever um livro... Foi isso o que ele me disse...
– Tem certeza de que o que ele quer não é, na verdade, alguma outra coisa?
Ela hesitou por um momento.
– Não.
– Talvez me pedir dinheiro?
– Pode ser. Os jogadores estão sempre precisando de dinheiro... Sim, é claro que ele vai lhe pedir dinheiro...
Devem ter falado sobre isso depois do encontro na rua da Arcade. Sentiam-se certamente encurralados – expressão que Chantal usava antigamente ao falar sobre Paul. Mas este sempre tinha uma esperança de mudar a situação com seus martingales.
– Daqui a pouco ele não terá nem mesmo como pagar o aluguel de Graisivaudan.
Sim, os aluguéis na praça de Graisivaudan certamente tinham subido nos últimos quarenta e cinco anos. Daragane ocupava um quarto clandestinamente, graças a um amigo com quem o proprietário deixara as chaves. Nesse quarto havia um telefone com um cadeado no disco para que não se pudesse usá-lo. Mesmo assim, ele conseguia discar alguns números.
– Eu também morei na praça de Graisivaudan – disse.
Olhou-o surpresa, como se descobrisse haver laços entre eles. Daragane quase acrescentou que a moça que às vezes se encontrava com ele no quarto, ali, também se chamava Chantal. Mas para quê? Ela disse:
– Talvez seja o mesmo quarto de Gilles... Numa água-furtada... Tem de pegar o elevador e depois subir uma escadinha...
Isso mesmo, o elevador não subia até o último andar – um corredor com uma sucessão de quartos, todos com um número meio apagado na porta. O seu era o número 5. Lembrava-se disso por causa de Paul, que sempre tentava lhe explicar uma de suas apostas no sistema martingale “em torno do cinco neutro”.
– Também tinha um amigo que apostava em corridas, e no Cassino de Charbonnières...
Parecendo mais calma diante dessas palavras, ela lhe sorriu levemente. Deveria estar raciocinando que, apesar de algumas dezenas de anos de diferença, eles pertenciam ao mesmo universo. Mas qual?
– Então, você está vindo de uma de suas noitadas?
Logo se arrependeu de ter feito a pergunta, mas, aparentemente, ela se sentia agora mais à vontade:
– Sim... É um casal que organiza umas noitadas meio especiais no apartamento deles... O Gilles trabalhou como motorista para eles por um tempo... Telefonam de vez em quando para que eu compareça... O Gilles é que insiste que eu vá... Eles me pagam... Não tenho como não ir...
Ouvia-a sem ousar interrompê-la. Talvez ela já nem se dirigisse a ele, como se tivesse esquecido a sua presença. Devia ser bem tarde. Cinco horas da manhã? O dia logo chegaria, desfazendo a penumbra. Ele se veria só, em seu escritório, depois de um sonho ruim. Não, ele nunca perdera aquela caderneta de endereços. Gilles Ottolini e Joséphine Grippay, que preferia ser chamada de Chantal, nunca haviam existido.
– Também vai ser muito difícil para o senhor, agora, se livrar do Gilles... Não irá largá-lo mais... É capaz de esperá-lo na saída do seu prédio...
Ameaça ou alerta? Nos sonhos, pensou Daragane, não sabemos muito bem a que nos agarrar. Sonho? Vamos ver quando despertar o dia. No entanto, ali, na frente dele, o que havia certamente não era um espectro. Não saberia dizer se ouvimos as vozes no sonho, mas ele ouvia muito bem a voz rouca de Chantal Grippay.
– Tenho um conselho: não atenda mais nenhum telefonema dele.
Inclinou-se, falando baixinho, como se Gilles Ottolini estivesse atrás da porta.
– Deixe recados no meu celular... E ligarei de volta quando não estiver com ele... Eu o deixarei a par daquilo que ele pretende fazer. Assim, o senhor poderá evitá-lo.
Decididamente, a moça se mostrava muito solícita, mas Daragane preferiria lhe dizer que se viraria sozinho. Já cruzara com outros Ottolinis em sua vida. Conhecera vários prédios em Paris com duas saídas, graças às quais sempre se livrava das pessoas. Além disso, para pensarem que não estava em casa, muitas vezes deixava as luzes apagadas, por causa das duas janelas que davam para a rua.
– Emprestei-lhe um livro dizendo que foi escrito pelo Gilles... O passeante hípico...
Tinha se esquecido desse livro. Deixara na pasta laranja, de onde tirara apenas as fotocópias.
– Pois é mentira... O Gilles diz ter escrito esse livro porque o autor tem o mesmo sobrenome que ele... Mas não o nome... Além do mais, esse sujeito já está morto...
Passou a remexer no saco plástico que deixara ao seu lado no sofá. Dali tirou o vestido de seda preto com as duas andorinhas amarelas que Daragane havia notado no quarto dela na rua de Charonne.
– Esqueci meus sapatos de salto alto na casa daquelas pessoas...
– Conheço esse vestido – disse Daragane.
– Eles querem que eu o vista toda vez que vou à casa deles.
– É um vestido esquisito...
– Achei no fundo de um armário no meu quarto. Tem uma marca atrás.
Estendeu-lhe o vestido. Na etiqueta, ele leu: “Silvy-Rosa. Moda costura. Rua Estelle. Marselha.”
– Talvez você o tenha usado em uma vida anterior...
Tinha dito a ela a mesma coisa, na tarde do dia anterior, no quarto da rua de Charonne.
– Acha mesmo?
– Uma sensação... Por causa da etiqueta, que é bem antiga...
Ela olhou então a etiqueta com ar desconfiado. Em seguida, colocou o vestido ao seu lado, no sofá.
– Espere um pouco... Já volto...
Ele saiu do escritório para ver se tinha deixado a luz acesa na cozinha, cuja janela dava para a rua. Sim, a luz estava acesa. Apagou-a e encostou-se na janela. Pouco antes, imaginara Ottolini ali, de sentinela. Pensamentos desse tipo nos ocorrem tarde da noite, quando ainda não adormecemos, pensamentos que havíamos tido antes, na infância, apenas para nos amedrontar. Ninguém. Mas ele poderia estar escondido atrás da fonte ou, à direita, atrás de uma das árvores da praça.
Ficou ali por longo tempo, parado, ereto, de braços cruzados. Não viu ninguém na rua. Nenhum automóvel. Se tivesse aberto a janela, teria ouvido o murmúrio da fonte e se perguntaria se não estava na verdade em Roma, não em Paris. Roma, de onde ele recebera, muitos anos atrás, um cartão-postal de Annie Astrand, último sinal de vida que ela lhe tinha dado.
Quando voltou ao escritório ela estava deitada no sofá, vestida com aquele estranho vestido de seda preto com duas andorinhas amarelas. Ele teve um momento de confusão. Ela já estava com esse vestido quando ele lhe abriu a porta? Não. Sua camisa e sua calça pretas estavam enroladas no piso de madeira, ao lado de suas sapatilhas. Ela estava de olhos fechados, e sua respiração era regular. Fingia dormir?
Ela saíra por volta do meio-dia, e Daragane, como de costume, estava sozinho em seu escritório. Ela temia que Ottolini já pudesse ter voltado. Quando ele ia ao cassino de Charbonnières, às vezes pegava o trem para Paris bem cedinho na segunda-feira. Pela janela, ele a vira distanciar-se, com sua camisa e sua calça pretas. Não carregava o saco plástico. Esquecera-o, junto com o vestido preto, sobre o sofá. Daragane demorou para encontrar o cartão de visita que ela lhe dera, um cartão de visita de papel amarelecido. Mas o celular não atendia. Ela acabaria telefonando quando percebesse que esquecera o vestido.
Tirou-o do saco e olhou de novo a etiqueta: “Silvy-Rosa. Costura moda. Rua Estelle. Marselha.” Isso lhe lembrava alguma coisa, apesar de não conhecer Marselha. Já havia lido esse endereço ou pelo menos ouvido o nome. Ainda que de aparência insignificante, esse tipo de enigma podia ocupar a sua mente, quando era jovem, durante dias e dias, período em que procurava obstinadamente uma resposta. Mesmo em se tratando de um detalhe minúsculo, experimentava uma sensação de angústia e de falta de alguma coisa enquanto não o conectasse ao conjunto, como uma peça perdida de um quebra-cabeça. Podia ser uma frase ou um verso cujo autor ele buscava; ou, ainda, meramente um nome. “Silvy-Rosa. Costura moda. Rua Estelle. Marselha.” Fechou os olhos, tentando se concentrar. Veio-lhe à mente uma palavra, que parecia estar ligada àquela etiqueta: “A Chinesa.” Precisaria de paciência para mergulhar fundo na água a fim de descobrir o laço entre “Silvy-Rosa” e “A Chinesa”, mas já fazia alguns anos que já não encontrava energia para se dedicar à realização de proezas desse gênero. Não. Estava velho demais. Em vez de mergulhar, preferia ficar boiando na água... “A Chinesa”... Seria por causa dos cabelos pretos e dos olhos ligeiramente amendoados de Chantal Grippay?
Sentou-se à escrivaninha. Naquela noite, ela não tinha notado aquelas páginas dispostas ali de forma desordenada, tampouco os riscos feitos por ele com lápis azul. Abriu a pasta de papelão que deixara perto do telefone, tirou o livro de dentro dela e começou a folhear O passeante hípico. Tratava-se de uma reimpressão recente de uma obra cujo copyright datava de antes da guerra. Como Gilles Ottolini podia ter a cara de pau, ou a ingenuidade, de querer se passar por seu autor? Fechou o livro e voltou os olhos para as páginas em desordem, à sua frente. Na primeira leitura, tinha pulado várias frases devido às letras apertadas demais.
Mais uma vez as palavras dançavam diante de seus olhos. Havia claramente mais detalhes sobre Annie Astrand, mas sentia-se exausto demais para tomar conhecimento deles. Faria isso mais adiante, à tarde, com a cabeça descansada. Isso se não optasse simplesmente por rasgar tudo aquilo, página por página. Sim, mais tarde voltaria ao assunto.
Ao guardar o “dossiê” na pasta de papelão, seus olhos depararam com a fotografia da criança, que ele tinha esquecido. Do lado de trás estava escrito: 3 fotos. Criança não identificada. Revista e prisão Astrand, Annie. Posto de fronteira Vintimille. 21 de julho de 1952. Sim, tratava-se de uma ampliação de uma foto 3 x 4, como ele havia imaginado na tarde do dia anterior no quarto da rua de Charonne.
Não conseguia tirar os olhos da fotografia, perguntando-se o motivo pelo qual a esquecera entre as páginas do “dossiê”. Seria algo que o incomodava, alguma prova, como se diz no linguajar jurídico, que ele, Daragane, preferira apagar da memória? Sentiu uma espécie de vertigem, uma comichão no couro cabeludo. Era obrigado a admitir que aquela criança, que as dezenas de anos passados mantinham a uma distância tão grande que lhe parecia um ser estranho, era realmente ele.
Em outro outono, diferente daquele do domingo no Tremblay, mas também distante, Daragane recebera uma carta, na praça de Graisivaudan. Passava na frente do cubículo da zeladora justamente quando ela se preparava para distribuir a correspondência do prédio.
– Imagino que Jean Daragane seja o senhor.
Entregou-lhe uma carta em cujo envelope estava o seu nome, escrito com tinta azul. Nunca havia recebido nenhuma correspondência naquele endereço. Não conseguia reconhecer a letra, uma letra grande, que ocupava todo o envelope: Jean Daragane, praça de Graisivaudan, 8, Paris. Faltara lugar para escrever o número do distrito. Na parte de trás do envelope, um nome e um endereço: A. Astrand, rua Alfred-Dehodencq, 18, Paris.
Inicialmente, esse nome não lhe disse nada. Seria por conter apenas a inicial “A” como prenome? Depois dirá a si mesmo que tivera um pressentimento, pois hesitara em abrir a carta. Foi até a fronteira com Neuilly e Levallois, na área em que dois ou três anos depois estacionamentos e casas térreas seriam demolidos para dar lugar à construção da marginal. ASTRAND. Como fora possível não ter entendido logo de cara de quem se tratava?
Deu meia-volta e entrou em um café no térreo de um dos blocos de edifícios. Sentou-se, tirou a carta do bolso, pediu um suco de laranja e, se fosse possível, uma faca. Abriu a carta com a ajuda da faca, pois temia rasgar o papel bem onde se registrava o endereço, atrás do envelope, se usasse apenas as mãos. Dentro havia apenas três fotografias, do tipo de foto para identidade. Nas três, ele se reconheceu, criança. Recordava-se da tarde em que tinham sido tiradas, numa lojinha depois da ponte Saint-Michel, em frente ao Palácio da Justiça. Desde então, passara frequentemente por essa lojinha, que estava igual e exatamente no mesmo lugar. Agora, precisava encontrar essas fotos para compará-las com a ampliação que integrava o “dossiê” de Ottolini. Estariam na maleta em que guardava cartas e documentos datados de pelo menos quarenta anos atrás e da qual, por sorte, tinha perdido a chave? Inútil. Eram certamente as mesmas fotos. “Criança não identificada. Revista e prisão Astrand, Annie. Posto de fronteira Vintimille. 21 de julho de 1952.” Tinham-na provavelmente detido e revistado no momento em que se preparava para cruzar a fronteira.
Ela lera o seu romance No escuro do verão e nele reconhecera um episódio daquele verão. Não fosse isso, por que lhe escreveria quinze anos depois? Mas como teria descoberto o seu endereço provisório? Ainda mais que ele raramente dormia na praça de Graisivaudan, passando a maior parte do tempo em um quarto na rua Coustou ou no bairro da Place Blanche.
Escrevera o livro na esperança justamente de que ela lhe desse algum sinal de vida. Para ele, escrever era também emitir sinais, como um farol, ou lançar mensagens em código Morse a certas pessoas cujos destinos ignorava. Bastava jogar seus nomes ao acaso, em diversas páginas, e aguardar que lhe dessem notícia. No caso de Annie Astrand, porém, não havia mencionado o nome, buscando, ao contrário, embaralhar as pistas. Ela não tinha como se reconhecer em nenhum dos personagens. Ele nunca conseguira compreender que se pode colocar em um romance uma pessoa que foi realmente importante para você. Uma vez tendo invadido o romance como se atravessasse um espelho, ela lhe escapa totalmente; nunca existiu de verdade; reduziu-se a nada. É preciso proceder de maneira mais sutil. Dessa maneira, o único trecho de No escuro do verão que poderia chamar a atenção de Annie Astrand era a cena em que a mulher e a criança entram na lojinha do bulevar do Palácio da Justiça. O menino não entende por que ela o coloca na cabine de fotos. Ela lhe diz para olhar a tela fixamente sem mexer a cabeça. Puxa a cortina preta. Ele está sentado no banquinho. Um flash o perturba e ele fecha os olhos. Ela puxa de novo a cortina preta, e ele sai da cabine. Aguardam que as fotos caiam pela fenda lateral da máquina. E precisam refazer tudo, pois ele saiu nas fotos de olhos fechados. Depois, ela o leva para tomar um suco de romã no café ao lado. Foi assim que aconteceu. Ele descrevera a cena com exatidão, sabendo que essa passagem não tinha muito que ver com o restante do romance. Era um pedaço de realidade introduzido ali fraudulentamente, como essas mensagens pessoais que se divulgam no meio de pequenos anúncios de jornal e que só podem ser decifradas por uma única pessoa.
A tarde chegava ao fim e ele estranhava não ter recebido nenhum telefonema de Chantal Grippay. Certamente tinha percebido que o vestido preto ficara na casa dele. Discou então para o seu celular, mas ninguém atendeu. Depois do sinal, vinha o silêncio. Chegara à beira de um precipício, para além da qual nada havia além de um vazio imenso. Perguntou-se se o número continuava ativo ou se Chantal Grippay não teria perdido o celular. Ou, ainda, se ela estava viva.
A partir daí, surgiu-lhe uma dúvida em relação a Gilles Ottolini. Digitou no teclado do computador: “Agência Sweers, Paris.” Não havia nenhuma agência Sweers em Paris. Nem no bairro da estação Saint Lazare nem em nenhum outro distrito. O suposto autor de O passeante hípico era um funcionário-fantasma de uma agência imaginária.
Quis então saber se havia alguma menção a Ottolini relacionada com a praça de Graisivaudan. Entre os oito nomes que apareciam vinculados à praça, nenhum era o de Ottolini. De toda maneira, o vestido preto estava ali, sobre o encosto do sofá – prova de que aquilo tudo não fora um sonho. Ao acaso, digitou então “Silvy-Rosa. Costura moda. Rua Estelle. Marselha”. Tudo o que apareceu, porém, foi “Consertos Rosa, rua do Sauvage, 18, 68100 Mulhouse”. Fazia já várias semanas que não usava o computador, no qual a maioria de suas pesquisas não dava em nada. As raras pessoas cujos traços ele teria vontade de recompor haviam conseguido escapar da vigilância exercida por essa máquina. Tinham se livrado da rede seja por pertencerem a outra época, seja, também, por não serem pessoas, digamos, angelicais. Lembrou-se de seu pai, que mal conhecera, mas que uma vez lhe dissera em tom suave: “Eu seria capaz de deixar dez juízes de instrução totalmente desanimados.” Nenhum vestígio de seu pai no computador. Tampouco de Torstel ou de Perrin de Lara, cujos respectivos nomes ele digitara no teclado, na véspera, antes da chegada de Chantal Grippay. No caso de Perrin de Lara, produzira-se o fenômeno de sempre: quantidades enormes de Perrin apareciam na tela; uma noite inteira não seria suficiente para repassar toda a lista. Aqueles de quem ele gostaria de ter notícias se escondiam frequentemente em meio a uma multidão de anônimos, ou então por trás do nome de alguma figura célebre com o mesmo nome. E quando digitava uma pergunta direta: “Jacques Perrin de Lara ainda está vivo? Se sim, informe-me seu endereço”, o computador era incapaz de responder; podiam-se sentir a hesitação e certo desconforto trafegando pelos vários fios que ligavam o aparelho à tomada elétrica. Às vezes surgiam algumas pistas, todas falsas: “Astrand” mostrava algumas indicações na Suécia, com várias pessoas com esse sobrenome na cidade de Gotemburgo.
Fazia calor demais, e o veranico prometia durar pelo menos até novembro. Em vez de aguardar o pôr do sol no escritório, como de costume, preferiu descer. Mais tarde, quando estivesse de volta, tentaria, com a ajuda de uma lupa, decifrar as fotocópias das páginas cuja leitura fizera rápido demais na véspera. Talvez assim teria a sorte de encontrar alguma coisa sobre Annie Astrand. Lamentava não lhe ter feito essas perguntas ao reencontrá-la quinze anos depois do episódio da cabine de foto, mas logo entendeu também que não conseguiria tirar dela nenhuma resposta.
Na rua, sentia-se mais indiferente do que nos dias anteriores. Talvez fosse um equívoco mergulhar naquele passado distante. Para quê? Fazia anos que já não pensava naquilo tudo. Aquele período de sua vida lhe surgia como se fosse por trás de uma vidraça opaca. Esta permitia que se filtrasse uma claridade difusa, sem que, todavia, fosse possível distinguir rostos ou silhuetas. Um vidro liso, espécie de tela protetora. Talvez tivesse conseguido, graças a uma amnésia voluntária, proteger-se definitivamente desse passado. Ou então o próprio tempo tratara de esmaecer as cores e as asperezas mais evidentes.
Ali, na calçada, sob a luz do veranico que proporcionava às ruas de Paris uma suavidade atemporal, tinha de novo a sensação de estar boiando no vazio. Uma sensação que passara a experimentar fazia apenas um ano, o que levava a se questionar se não estava relacionada com a aproximação da velhice. Quando bem jovem, vivera esses momentos de quase sono em que nos deixamos levar – normalmente depois de uma noite em claro –, mas agora era diferente: a impressão de estar descendo uma ladeira na “banguela”, com o motor desligado. Até quando?
Avançava deslizando, levado apenas pela brisa e pelo peso do próprio corpo. Chocava-se com pedestres que avançavam em sentido contrário e não tinham tempo de desviar. Pedia desculpas. Não era culpa deles. Normalmente era mais atento ao caminhar na rua, sempre pronto até a mudar de calçada se visse de longe algum conhecido que pudesse abordá-lo. Aprendera que somente em ocasiões muito raras cruzamos com pessoas que gostaríamos realmente de encontrar. Quantas vezes isso ocorre? Duas ou três vezes ao longo da vida?
Bem que gostaria de ir a pé até a rua de Charonne para devolver o vestido a Chantal Grippay, mas poderia dar de cara com Gilles Ottolini. Bem, mas e daí? Isso talvez lhe permitisse captar melhor a situação imprecisa daquele sujeito. Voltaram-lhe à mente as palavras de Chantal Grippay: “Querem demiti-lo da agência Sweers.” Mas ela devia saber muito bem que essa tal agência Sweers não existia. E quanto ao livro, O passeante hípico, cujo copyright datava de antes da guerra? Teria Ottolini entregue o manuscrito à editora do Sablier em uma vida anterior e com outro nome? Ele, Daragane, bem que merecia algumas explicações sobre tudo isso.
Chegara às arcadas do Palais-Royal. Caminhara sem objetivo claro, mas, atravessando a Ponte des Arts e depois o pátio do Louvre, seguira na verdade um itinerário que lhe era muito familiar na infância. Ao avançar pelo chamado Louvre dos Antiquários, recordou-se das vitrines natalinas das Grandes Lojas do Louvre, naquele mesmo local. E agora, parado no meio da galeria de Beaujolais, como se tivesse chegado ao ponto final da caminhada, surgiu-lhe outra lembrança. Uma lembrança que desaparecera havia tanto tempo, a tão grande profundidade, tão distante da luz, que agora parecia nova. Perguntou-se se seria mesmo uma lembrança ou então uma imagem instantânea que, depois de se separar do passado, já não pertencia a este mesmo passado, como um elétron livre: sua mãe e ele – numa das raras oportunidades em que estiveram juntos – entrando em uma loja de livros e de quadros e sua mãe falando com dois homens, um deles sentado a uma escrivaninha no fundo da loja e o outro apoiado com o cotovelo no mármore sobre a lareira. Guy Torstel. Jacques Perrin de Lara. Estanques ali, para sempre. Como teria sido possível que, no domingo de outono em que voltava do Tremblay com Chantal e Paul no automóvel de Torstel, este nome não lhe evocara nada, nem mesmo o seu cartão de visita, em que, no entanto, aparecia o endereço daquela loja?
No carro, Torstel chegara até a fazer alusão à “casa nos arredores de Paris” onde o tinha visto criança, a casa de Annie Astrand. Daragane passara quase um ano ali, em Saint-Leu-la-Forêt. “Lembro-me de um menino”, dissera Torstel. “Esse menino era você, eu suponho.” E Daragane lhe respondera secamente, como se isso não lhe dissesse respeito. Foi justamente nesse domingo que ele começou a escrever No escuro do verão, assim que Torstel o deixou na praça de Graisivaudan. E em nenhum momento teve a presença de espírito de lhe perguntar se ele se lembrava da mulher que vivia naquela casa, em Saint-Leu-la-Forêt, “uma certa Annie Astrand”. Ou se por acaso sabia algo sobre o destino dela.
Sentou-se num banco do jardim, sob o sol, perto das arcadas da galeria de Beaujolais. Devia ter caminhado por mais de uma hora sem se dar conta de que fazia mais calor do que nos outros dias. Torstel. Perrin de Lara. Sim, ele estivera com Perrin de Lara pela última vez no mesmo ano daquele domingo no Tremblay – tinha apenas 21 anos –, e esse encontro teria caído na noite fria do esquecimento – como diz a canção – não fosse Annie Astrand. Ele estava em um café da rotatória da avenida Champs-Elysées que anos depois se transformaria numa drogaria. Eram dez horas da noite. Uma pequena parada antes de retomar a caminhada de volta para a praça de Graisivaudan, ou melhor, para um quarto na rua Coustou que havia alugado fazia algum tempo por seiscentos francos mensais.
Naquela noite, não se dera conta imediatamente da presença de Perrin de Lara, bem à sua frente, sozinho, no terraço.
Por que lhe dirigiu a palavra? Fazia mais de dez anos que se haviam visto; aquele homem certamente não tinha como reconhecê-lo. Mas ele acabara de publicar o primeiro livro, e Annie Astrand estava presente em sua mente de forma esmagadora. Talvez Perrin de Lara soubesse algo sobre ela.
Postou-se diante da mesa dele, que ergueu a cabeça. Não, não o reconhecia.
– Jean Daragane.
– Ah, Jean...
Sorriu-lhe levemente, como se estivesse incomodado por alguém encontrá-lo àquela hora da noite, sozinho, em um lugar como aquele.
– Há quanto tempo... Você cresceu... Sente-se, Jean...
Indicou-lhe a cadeira à sua frente. Daragane hesitou, por uma fração de segundo. A porta de vidro do terraço estava entreaberta. Bastava-lhe emitir aquela frase com que estava tão habituado: “Espere só um pouco... já volto...”, sair à rua, respirar fundo e, sobretudo, não olhar para trás, para a sombra que permaneceria ali para sempre a aguardá-lo, sozinha, no terraço de um café.
Sentou-se. O rosto de estátua romana de Perrin de Lara engordara, e os caracóis de seus cabelos estavam grisalhos. Trajava um paletó de linho azul-marinho, leve demais para a estação. Diante dele, uma taça de martíni pela metade, a qual Daragane reconheceu pela cor.
– E sua mãe? Faz anos que não nos falamos... Sabe... Éramos como irmãos...
Ergueu os ombros, e seu olhar era de preocupação.
– Fiquei muito tempo fora de Paris...
Aparentemente, queria lhe falar sobre o motivo dessa longa ausência. Mas ficou em silêncio.
– Reencontrou seus amigos Torstel e Bob Bugnand?
Perrin de Lara pareceu surpreso por ouvir esses dois nomes da boca de Daragane. Surpreso e desconfiado.
– Você tem boa memória... Lembra-se deles?
Olhou fixamente para Daragane, um olhar incômodo.
– Não... Já não os vejo... É incrível a memória das crianças... E você? O que conta de novo?
Daragane sentiu um amargor acompanhando essa pergunta. Mas talvez se enganasse. Talvez Perrin de Lara estivesse apenas sob o efeito de um martíni que se consome sozinho, às dez horas da noite, no outono, no terraço de um café.
– Estou tentando escrever um livro...
E logo se repreendeu por ter feito a confidência.
– Ah... como naquele tempo em que sentia ciúme de Minou Drouet?
Daragane havia esquecido esse nome. Sim, sim, era a menina da mesma idade que ele e que escrevera aquela seleção de poemas, Árvore, minha amiga.
– A literatura é uma coisa muito difícil... Imagino que você já tenha percebido isso...
Perrin de Lara adotara um tom doutoral que surpreendeu Daragane. O pouco que sabia e a recordação que guardava dele de infância induziam-no a vê-lo como a um homem superficial. Um corpo apoiado em mármores de lareiras. Teria pertencido, como sua mãe e Torstel, e talvez também Bob Bugnand, ao “Clube das Crisálidas”?
Por fim, perguntou:
– Foi em definitivo que o senhor voltou para Paris depois dessa longa ausência?
O outro ergueu os ombros e dirigiu-lhe um olhar arrogante, como se Daragane lhe tivesse faltado com o respeito.
– Não sei o que você entende por “em definitivo”.
Daragane também não sabia. Perguntara apenas para sustentar a conversa, mas o sujeito se abespinhara. Sentiu vontade de levantar-se e dizer: “Muito bem, boa sorte, senhor...” e, antes de sair pela porta de vidro do terraço, dirigir-lhe um sorriso fazendo um aceno de despedida, como numa estação de trem. Segurou-se, porém. Precisava ter paciência. Talvez o outro soubesse alguma coisa sobre Annie Astrand.
– O senhor me indicava leituras, lembra?
Esforçava-se para adotar um tom emotivo na voz. E, no fim das contas, era verdade: quando criança, ganhou daquele fantasma um volume das Fábulas de La Fontaine, numa edição da coleção de capa verde-claro dos Clássicos Hachette. Tempos depois, esse mesmo homem o aconselhara a ler Fabrizio Lupo quando fosse maior.
– Realmente, você tem uma bela memória...
O tom suavizara. Perrin de Lara sorriu para ele. Mas foi um sorriso tenso. Inclinou-se na direção de Daragane.
– Vou lhe dizer uma coisa: já não reconheço a Paris onde vivi... Cinco anos de ausência foram suficientes... Tenho a sensação de estar em uma cidade estranha.
Comprimia os maxilares, como se quisesse impedir que as palavras saíssem de sua boca em um fluxo desordenado. Provavelmente fazia muito tempo que não conversava com alguém.
– As pessoas já não atendem ao telefone... Não sei se continuam vivas, se me esqueceram, ou se já não têm tempo de se comunicar...
O sorriso se ampliou. Seu olhar ficou mais terno. Talvez pretendesse atenuar a tristeza, que combinava à perfeição com aquele terraço vazio, onde a iluminação deixava espaço para várias áreas de penumbra.
Parecia, agora, arrependido de ter feito essas confidências. Reergueu o tronco e virou a cabeça para a porta de vidro do terraço. Apesar do inchaço no rosto e dos caracóis grisalhos que faziam sua cabeleira lembrar uma peruca, mantinha a típica imobilidade de estátua de sua figura de pelo menos dez anos antes, uma das raras imagens de Jacques Perrin de Lara que Daragane guardava na lembrança. E tinha também o hábito de se colocar de lado para falar com seus interlocutores, como agora. Devem ter-lhe dito, no passado, que possuía um belo perfil – embora todos os que pudessem ter dito isso já estivessem agora mortos.
– Mora aqui no bairro? – perguntou Daragane.
Mais uma vez inclinou-se na sua direção, hesitando na resposta.
– Aqui perto. Em um hotelzinho no bairro de Ternes.
– Podia me deixar seu endereço...
– Faz questão disso?
– Sim. Seria um prazer vê-lo novamente.
Agora entraria na questão central. E sentia certa apreensão diante disso. Limpou a garganta.
– Queria lhe pedir uma informação.
A voz saiu quase apagada. Captou a surpresa no rosto de Perrin de Lara.
– É sobre uma pessoa que o senhor talvez tenha conhecido... Annie Astrand.
Pronunciou o nome com força, destacando bem as sílabas, como fazemos ao telefone quando alguma interferência parece cortar a nossa voz.
– Repita o nome...
– ANNIE ASTRAND.
Quase gritou. Parecia ter lançado no ar um grito de socorro.
– Morei muito tempo na casa dela, em Saint-Leu-la-Forêt.
As palavras que acabava de pronunciar eram muito claras, com uma sonoridade metálica em meio ao silêncio daquele terraço. Mesmo assim, considerou que isso talvez não servisse para nada.
– Sim... eu lembro... Fomos visitar você uma vez ali, com sua mãe...
Calou-se. E nada mais falaria sobre o assunto. Era apenas uma lembrança longínqua que não lhe dizia respeito. Não devemos nunca contar com ninguém para ter resposta às nossas perguntas.
Acrescentou, no entanto:
– Uma mulher muito jovem, do tipo dançarina de cabaré. Bob Bugnand e Torstel a conheciam melhor do que eu. Sua mãe também. Acho que ela tinha sido presa... Qual o seu interesse nessa mulher?
– Ela foi muito importante para mim.
– Ah, sim... Bem, sinto muito não poder lhe dar informações. Ouvi sua mãe e Bob Bugnand falarem vagamente dela...
Adotara uma voz mundana. E Daragane se perguntou se não estaria imitando alguém que o impressionara na juventude e cujos gestos e entonações exercitara durante noites diante do espelho, alguém que talvez expressasse para ele, um bom moço de certo modo ingênuo, a elegância parisiense.
– A única coisa que posso lhe dizer é que ela esteve presa... É tudo o que sei dessa mulher...
As luzes de neon do terraço foram apagadas, para que os últimos fregueses entendessem que estava na hora de fechar o café. Perrin de Lara mantinha-se calado na penumbra. Daragane pensou numa sala de cinema de Montparnasse onde alguns dias antes entrara para se proteger da chuva. Não era uma sala aquecida, e os poucos espectadores se mantinham agasalhados. Costumava ficar de olhos fechados no cinema. Para ele, as vozes e as músicas dos filmes eram mais sugestivas do que as imagens. Veio-lhe à lembrança, então, uma frase do filme daquela noite, emitida por uma voz abafada antes de as luzes se reacenderem, e ele tinha a ilusão de que era ele próprio quem a pronunciava: “Que caminhos estranhos eu tive de percorrer para chegar até você.”
Alguém tocou-lhe o ombro.
– Senhores, estamos fechando... É hora de partir.
Atravessaram a avenida e caminharam pelo passeio onde, durante o dia, montam-se as barracas da feira de selos. Daragane hesitava em deixar Perrin de Lara. Este parou de repente, como se uma ideia lhe tivesse surgido bruscamente na cabeça.
– Não saberia lhe dizer nem mesmo o motivo pelo qual ela tinha sido presa...
Estendeu a mão, que Daragane se apressou em apertar.
– Bem, até logo, eu espero... Ou então até daqui a outros dez anos...
Daragane não sabia o que responder. Ficou ali, na calçada, seguindo-o com os olhos. O outro, com seu paletó excessivamente leve, se afastava. Caminhava a passos lentos sob as árvores. Quando ia atravessar a avenida Marigny, quase perdeu o equilíbrio, empurrado pelas costas por um golpe de vento e um punhado de folhas mortas.
Em casa, acionou a secretária eletrônica para ver se havia alguma mensagem de Chantal Grippay ou de Gilles Ottolini. Nada. O vestido preto com as andorinhas continuava sobre o encosto do sofá, e a pasta laranja no mesmo lugar sobre a escrivaninha, perto do telefone. Pegou as fotocópias.
À primeira vista, muito pouco sobre Annie Astrand. Mas, sim, havia alguma coisa. Mencionava-se o endereço da casa em Saint-Leu-la-Forêt: “rua da Ermitage, 15”, seguido de um comentário registrando que uma busca fora feita ali, no mesmo ano em que Annie o levara para tirar a foto e em que ela fora revistada no posto da fronteira de Vintimille. Citavam-se seu irmão Pierre (rua Laferrière, 6, 9º distrito de Paris) e Roger Vincent (rua Nicolas-Chuquet, 12, 17º distrito de Paris), de quem desconfiavam fosse seu “protetor”.
Registrava-se até mesmo que a casa em Saint-Leu-la-Forêt estava em nome de Roger Vincent. Também estava ali uma cópia de um relatório bem mais antigo da Direção da Polícia Judiciária, Brigada de Costumes, Investigações e Informações, referente à assim chamada Astrand Annie, moradora em um hotel, na rua Notre-Dame-de-Lorette, 46, e onde estava escrito “Conhecida em Étoile Kléber”. Mas isso tudo era confuso, como se alguém – algum Ottolini? –, recopiando documentos de arquivos às pressas, tivesse saltado algumas palavras e encaixado de vez em quando algumas frases escolhidas ao acaso e sem nenhuma relação umas com as outras.
Seria realmente útil mergulhar de novo naquela massa espessa e viscosa? Continuando a leitura, Daragane experimentava a mesma sensação da véspera ao tentar decifrar essas mesmas páginas: frases que ouvimos em um quase sono, das quais as poucas palavras de que nos recordamos na manhã seguinte não fazem nenhum sentido. Isso tudo, recheado com endereços precisos: rua da Ermitage, 15; rua Nicolas-Chuquet, 12; rua Notre-Dame-de-Lorette, 46, provavelmente com o objetivo de definir alguns pontos de referência para se agarrar em meio àquela areia movediça.
Tinha certeza de que dali a alguns dias acabaria rasgando todas essas folhas, e se sentiria aliviado com isso. Até lá, porém, as deixaria sobre a escrivaninha. Uma última leitura talvez pudesse levá-lo a descobrir algum sinal escondido que o colocaria na pista de Annie Astrand.
Precisava encontrar o envelope que ela enviara para ele, anos atrás, com as fotografias. No dia em que o recebeu, ele consultou a lista telefônica de endereços. No número 18 da rua Alfred-Dehodencq, nada de Annie Astrand. E, como ela não lhe mandara o número do telefone, só lhe restava escrever... Receberia, porém, alguma resposta?
Nessa noite, no escritório, tudo isso lhe parecia muito distante... A virada de século já completara dez anos... E, no entanto, ao entrar em uma rua, ao cruzar com um rosto – muitas vezes bastava até mesmo uma palavra extraída de uma conversa qualquer ou uma nota musical –, o nome, Annie Astrand, retornava na memória. Mas isso ocorria de forma cada vez menos frequente e cada vez mais rápida, como um sinal luminoso que se apagava imediatamente.
Hesitara em lhe escrever ou enviar um telegrama. Rua Alfred-Dehodencq. FAVOR MANDAR NUMERO TELEFONE. JEAN. Ou uma mensagem por correio pneumático, como ainda se fazia naquela época. Por fim, decidiu ir até aquele endereço, justamente ele, que não gostava de visitas imprevistas nem dessas pessoas que nos abordam na rua de maneira abrupta.
Era outono, o Dia de Todos os Santos. Uma tarde de sol. Pela primeira vez na vida, a expressão “Todos os Santos” não provocava nele um sentimento de tristeza. Pegou o metrô na Place Blanche. Precisava fazer duas transferências. Na Étoile e na Trocadéro. Aos domingos e nos feriados, os trens demoram mais para chegar, mas ele dizia a si mesmo que somente em um feriado é que conseguiria rever Annie Astrand. Contava os anos. Eram quinze, desde aquela tarde em que ela o levara à loja da cabine fotográfica. Lembrava-se de uma manhã, na estação de Lyon. Os dois tinham embarcado em um trem, um trem lotado por conta do primeiro dia das férias de verão.
Aguardando o trem do metrô na estação Trocadéro, foi tomado por uma dúvida: talvez nesse dia ela nem estivesse em Paris. E, passados quinze anos, ele não a reconheceria.
A rua terminava em uma grade. Atrás dela, as árvores da praça de Ranelagh. Nenhum carro estacionado ao longo das calçadas. Silêncio. Seria possível pensar até que ninguém morava por ali. O número 18 era o último, bem ao fundo, à direita, antes da grade e das árvores. Um prédio branco, ou melhor, um casarão, de dois andares. Na porta de entrada, um interfone. Ao lado do único botão disponível, um nome: VINCENT.
O imóvel lhe pareceu tão abandonado como a rua. Apertou o botão. Ouviu um chiado vindo do interfone, bem como um som que poderia ser do barulho do vento entre a folhagem. Inclinou-se e disse duas vezes, destacando sílaba por sílaba: JEAN DARAGANE. Uma voz feminina meio abafada pelo barulho do vento respondeu: “Primeiro andar.”
A porta de vidro abriu-se lentamente. Adentrou um hall de paredes brancas iluminadas por uma luminária. Não pegou o elevador; subiu pelas escadas, que formavam um cotovelo. Ao atingir o andar, ela já estava na fresta da porta entreaberta, o rosto coberto pela metade. Em seguida, soltou o ferrolho e fitou-o com o olhar de quem está com dificuldade para reconhecer o visitante.
– Entre, meu pequeno Jean.
Uma voz tímida, mas meio rouca, a mesma de quinze anos antes. Tampouco o rosto e o olhar haviam mudado. Os cabelos estavam mais compridos. Caíam-lhe até os ombros. Que idade teria agora? Trinta e seis anos? No vestíbulo de entrada, ainda o olhava com curiosidade. Ele buscava algo para lhe dizer:
– Não sabia que precisaria apertar o botão onde está escrito Vincent...
– Sim, agora eu me chamo Vincent. Troquei até o nome, veja você. Agnès Vincent.
Conduziu-o ao cômodo vizinho, que devia fazer as vezes de sala de estar, mas continha apenas um sofá e, ao lado dele, um abajur de pé. Uma grande porta de vidro permitia-lhe ver algumas árvores que não tinham perdido as folhas. Ainda era dia. Reflexos do sol no piso de madeira e nas paredes.
– Sente-se, meu pequeno Jean.
Ela ocupou o outro canto do sofá, como que para observá-lo melhor.
– Você se lembra de Roger Vincent?
Mal acabara de pronunciar esse nome, ele recordou-se, com efeito, de um automóvel conversível americano estacionado na frente da casa de Saint-Leu-la-Forêt, ao volante do qual estava um homem que ele também tomara, à primeira vista, por americano, dada a sua altura acima da média e um ligeiro sotaque ao falar.
– Casei-me, há alguns anos, com Roger Vincent.
Fitava-o com um sorriso embaraçado. Seria para que ele lhe perdoasse aquele casamento?
– Fica cada vez menos em Paris... Acho que ele ficaria feliz por rever você. Telefonei-lhe outro dia e contei que você tinha escrito um livro.
Certa tarde, em Saint-Leu-la-Forêt, Roger Vincent fora buscá-lo à saída da escola com seu carro conversível americano. Este deslizava pela rua de Ermitage sem fazer nenhum barulho com o motor.
– Ainda não li seu livro até o fim... Dei de cara com o trecho da loja da cabine fotográfica... Sabe, eu não leio romances...
Parecia se desculpar, como fizera pouco antes, ao contar do casamento com Roger Vincent. Não, não, agora que ambos estavam juntos, sentados ali naquele sofá, ela não precisava ler o livro “até o fim”.
– Você deve ter se perguntado como eu fiz para conseguir seu endereço... Encontrei uma pessoa que levou você até a sua casa no ano passado...
Ela franziu as sobrancelhas, parecendo buscar um nome. Mas o próprio Daragane o encontrou:
– Guy Torstel?
– Sim... Guy Torstel.
Por que pessoas que você nem imaginava existirem, com quem cruzou uma vez e nunca mais irá rever, cumprem, nos bastidores, um papel importante na sua vida? Pois graças a esse sujeito ele conseguira reencontrar Annie. Queria poder agradecer ao tal Torstel.
– Tinha esquecido completamente esse homem. Deve morar aqui pelo bairro. Ele me abordou na rua... Disse que tinha estado na casa de Saint-Leu-la-Forêt quinze anos atrás.
Certamente fora o encontro no hipódromo, no outono anterior, que refrescara a memória de Torstel. Este mencionara a casa de Saint-Leu-la-Forêt. Naquela ocasião, quando Torstel disse “Já não lembro qual era esse lugar nos arredores de Paris” e “Suponho que o menino fosse você”, ele, Daragane, não quis responder. Fazia muito tempo que já não pensava em Annie Astrand ou na casa de Saint-Leu-la-Forêt. No entanto, esse reencontro reavivou subitamente lembranças que ele tomava cuidado, sem ter consciência clara disso, para não despertar. Mas, pronto, a coisa estava feita. E eram muito persistentes essas lembranças. Por isso foi que na mesma noite começou a escrever seu livro.
– Ele disse que encontrou você em um hipódromo...
Ela sorria, como se se tratasse de uma brincadeira.
– Espero que você não tenha se tornado um jogador...
– Não, de jeito nenhum.
Ele, jogador? Jamais conseguira entender como era possível que aquelas pessoas, nos cassinos, passassem tanto tempo em volta das mesas, silenciosas, inertes, com sua cara de morto-vivo. E, toda vez que Paul lhe falava de apostas, tinha dificuldade para prestar atenção.
– Jogadores... Isso sempre acaba mal, meu pequeno Jean.
Devia conhecer muito bem o assunto. Costumava voltar tarde da noite para casa, em Saint-Leu-la-Forêt, enquanto ele, Daragane, muitas vezes não conseguia adormecer enquanto ela não chegasse. Que alívio ele sentia ao escutar o barulho dos pneus do carro sobre o cascalho e o do motor quando se desligava. E o de seus passos no corredor... O que ela fazia em Paris até as duas horas da madrugada? Talvez jogasse. Depois de todos esses anos, e agora que ele já não era criança, bem que gostaria de lhe fazer essa pergunta.
– Não entendi bem o que esse senhor Torstel faz... Acho que tem um antiquário no Palais Royal.
Aparentemente, não sabia muito bem o que lhe dizer. Ele gostaria de deixá-la à vontade, e ela devia sentir a mesma coisa, como se houvesse entre os dois a presença de uma sombra sobre a qual nenhum deles podia falar.
– Então, você se tornou um escritor?
Sorriu-lhe, e esse sorriso pareceu irônico para ele. Escritor. Por que não lhe confessar que tinha escrito No escuro do verão como se fosse não um livro, mas um aviso de busca? Com um pouco de sorte, a obra chamaria a atenção dela, que lhe daria, então, um sinal de vida. Era assim que ele tinha raciocinado. Nada além disso.
A tarde caía, mas ela não acendia o abajur ao lado do sofá.
– Devia ter procurado você antes, mas tive uma vida um tanto agitada...
Usara o verbo no passado, como se sua vida já tivesse chegado ao fim.
– Não me surpreende que tenha se tornado escritor. Quando era pequeno, em Saint-Leu-la-Forêt, você lia muito.
Daragane preferia que ela falasse da sua vida, não da dele. Mas, aparentemente, ela não queria fazer isso. Mantinha-se no sofá, de perfil. Veio-lhe então à lembrança uma imagem que, apesar de todos aqueles anos perdidos, guardava uma grande nitidez. Certa tarde, Annie estava na mesma posição de agora, o tronco ereto, de perfil, sentada ao volante de seu automóvel, e ele, criança, ao lado. O carro estava estacionado diante do portão da casa, em Saint-Leu-la-Forêt. Ele notou uma lágrima, quase imperceptível, a lhe escorrer pela face direita. Ela fez um gesto brusco com o cotovelo para enxugá-la e depois ligou o motor, como se nada tivesse acontecido.
– No ano passado – disse Daragane –, encontrei outra pessoa que disse ter conhecido você... na época de Saint-Leu-la-Forêt...
Ela se voltou para ele com um olhar inquieto.
– Quem?
– Um tal de Jacques Perrin de Lara.
– Não sei quem pode ser... Cruzei com tantas pessoas na época de Saint-Leu-la-Forêt...
– E Bob Bugnand? Esse nome lhe diz alguma coisa?
– Não. Nada.
Ela se aproximou e lhe acariciou a testa.
– O que está passando dentro dessa cabeça, meu pequeno Jean? Quer me fazer um interrogatório?
Fitava-o diretamente nos olhos. Não havia nenhuma ameaça nesse olhar – apenas preocupação. Acariciou-lhe mais uma vez a testa.
– Sabe, eu não tenho memória...
Lembrou-se das palavras de Perrin de Lara: “A única coisa que posso lhe dizer é que ela esteve presa.” Se lhe repetisse isso agora, ela se mostraria muito surpresa. Ergueria os ombros e responderia: “Ele deve ter me confundido com outra mulher.” Ou então: “E você acreditou nisso, meu pequeno Jean?” E talvez fosse sincera. Acabamos sempre por esquecer os detalhes incômodos ou muito dolorosos de nossas vidas. Basta boiar de costas e se deixar levar suavemente pelas águas profundas, de olhos fechados. Não, nem sempre se trata de um esquecimento voluntário, explicou-lhe certa vez um médico com quem conversara em um café sob os blocos de edifícios da praça de Graisivaudan. Esse homem, aliás, o presenteara com um exemplar autografado de um livro que havia publicado pela Presses Universitaires de France intitulado O esquecimento.
– Quer que eu explique por que levei você naquele dia para fazer as fotografias?
Daragane sentiu que não era com nenhuma alegria que ela tocava no assunto. Mas a noite estava chegando e a penumbra, naquela sala, poderia facilitar o caminho para as confidências.
– É muito simples. Na ausência de seus pais, eu queria levar você comigo para a Itália. Para isso, você precisava ter um passaporte.
Na maleta amarela de papel machê que havia alguns anos ele carregava de quarto em quarto contendo seus cadernos escolares, boletins, cartões-postais recebidos na infância e livros que lia naquela época – Árvore, minha amiga, O cargueiro secreto, O cavalo sem cabeça, As mil e uma noites – talvez estivesse também um velho passaporte, daqueles de capa azul-marinho, com seu nome e a tal fotografia. Mas ele nunca abrira aquela maleta. Estava trancada à chave – uma chave que ele tinha perdido, como o passaporte, provavelmente, também.
– Não consegui levar você para a Itália... Tive de ficar na França... Passamos alguns dias na Côte d’Azur... E depois você voltou para sua casa.
O pai viera buscá-lo numa casa vazia, e ambos pegaram o trem de volta para Paris. O que ela queria dizer exatamente com “sua casa”? Por mais que cavoucasse na memória, não lhe vinha à mente a menor lembrança daquilo que em linguagem comum se chama “minha casa”. O trem chegara à estação de Lyon pela manhã, bem cedo. Depois, seguiram-se longos e intermináveis anos de pensionato.
– Quando li aquele trecho do seu livro, vasculhei em meus documentos e encontrei as fotografias.
Daragane teve de esperar mais quarenta anos para conhecer outro detalhe daquela aventura: as fotografias de um “menino não identificado” recolhidas durante uma revista no posto de fronteira de Vintimille. “A única coisa que eu sei sobre essa mulher”, dissera Perrin de Lara, “é que ela esteve presa.” Então, certamente, quando ela deixou a prisão, devem ter-lhe devolvido as fotografias e outros documentos apreendidos. Mas ali, naquele sofá, ao lado dela, Daragane ainda desconhecia esse detalhe. Frequentemente, só ficamos sabendo de um episódio de nossa vida que alguém próximo escondeu de nós quando já é tarde demais para esse alguém falar sobre ele. Mas será que esse alguém realmente o escondeu de nós? Talvez o tenha esquecido, ou, com o passar do tempo, já não pense nele. Ou ainda simplesmente não encontre as palavras para relatá-lo.
– É uma pena que não tenhamos conseguido ir para a Itália – disse Daragane, com um sorriso largo.
Sentiu que ela queria lhe fazer alguma confidência. Mas ela chocalhou a cabeça levemente, como se quisesse afastar maus pensamentos – ou más recordações.
– Você ainda mora na praça de Graisivaudan?
– Na verdade, não. Encontrei um quarto para alugar em outro bairro.
Ficara com a chave do quartinho da praça de Graisivaudan, cujo proprietário estava fora de Paris. Às vezes, entrava ali escondido. A possibilidade de se alojar em dois lugares diferentes o deixava mais seguro.
– Um quarto ao lado da Place Blanche.
– Place Blanche?
O nome parecia evocar, nela, uma paisagem familiar.
– Vai me mostrar um dia a sua casa?
Era quase noite. Ela finalmente acendeu o abajur. Agora os dois estavam no centro de um halo luminoso, com o restante da sala às escuras.
– Conheço bem a área da Place Blanche. Lembra-se de meu irmão Pierre? Ele tinha um estacionamento lá...
Um jovem moreno. Às vezes dormia em um quartinho na casa de Saint-Leu-la-Forêt, à esquerda, no fundo do corredor. Um quartinho cuja janela dava para o pátio e para os poços. Daragane se lembrava de seu casacão e de seu carro, um Renault quatro cavalos. Em um domingo, esse irmão de Annie – tanto tempo se passara que tinha esquecido seu nome – o levara ao Circo Médrano. E voltaram no seu quatro cavalos para Saint-Leu-la-Forêt.
– Desde que moro aqui, nunca mais o vi...
– É um lugar estranho – disse Daragane, virando o rosto para a porta de vidro, transformada agora numa grande tela negra por trás da qual já não se podia ver as copas das árvores.
– Estamos no fim do mundo, meu pequeno Jean. Não acha?
Pouco antes, ele se surpreendera com o silêncio da rua e com a grade, ao final dela, que a tornava, na verdade, uma rua sem saída. Ao cair da noite, podia-se imaginar o prédio como estando no limite de uma floresta.
– Roger Vincent aluga essa casa desde a guerra... Ela estava embargada. Pertencia a pessoas que tinham tido de deixar a França... Você sabe, com Roger Vincent as coisas são sempre meio complicadas.
Ela o chamava de “Roger Vincent”, jamais de “Roger”, simplesmente. Ele, Daragane, também fazia assim na infância, cumprimentando-o com um “bom dia, senhor Roger Vincent”.
– Não poderei continuar aqui. Eles vão alugar a casa para alguma embaixada, ou então demoli-la. Às vezes, à noite, tenho medo de ficar sozinha... O térreo e o segundo andar estão desocupados. E Roger Vincent quase nunca está aqui.
Ela preferia lhe falar do presente, e Daragane compreendia isso perfeitamente. Perguntava-se se essa mulher era realmente a mesma que ele havia conhecido, criança, em Saint-Leu-la-Forêt. E ele? Quem era? Agora, quarenta anos depois daquele momento, quando a ampliação da fotografia de identidade chegaria a suas mãos, nem sequer se daria conta de que aquela criança era ele.
Mais tarde, ela quis levá-lo para jantar, pertinho de casa. Acabaram no fundo da sala de uma cervejaria na rua da Muette, um de frente para o outro.
– Lembro-me de termos ido alguns vezes, nós dois, a um restaurante em Saint-Leu-la-Forêt – disse Daragane.
– Tem certeza?
– O restaurante se chamava Chalé do Ermitage.
Esse nome ficara marcado em sua mente na infância por ser o mesmo da rua.
Ela ergueu os ombros.
– Esquisito... Eu jamais levaria uma criança a um restaurante – disse ela num tom severo, que surpreendeu Daragane.
– Você ficou morando depois muito tempo na casa de Saint-Leu-la-Forêt?
– Não. Roger Vincent a vendeu. Você sabe, aquela casa era de Roger Vincent.
Ele sempre acreditara que a casa fosse de Annie Astrand, nome e sobrenome que na época lhe pareciam colados um ao outro: Annieastrand.
– Eu fiquei lá por mais ou menos um ano, não foi?
Fez a pergunta com relutância, como se temesse que ela ficasse sem resposta.
– Sim... um ano... não sei mais... Sua mãe queria que você respirasse o ar da montanha... Minha sensação era de que ela procurava se livrar de você.
– Como vocês se conheceram?
– Bem, foi por amigos... Eu encontrava tantas pessoas naquela época...
Daragane compreendeu que ela não lhe contaria muitas coisas sobre aquele período de Saint-Leu-la-Forêt. Teria de se contentar com suas próprias recordações, poucas e frágeis recordações de cuja exatidão ele próprio já não tinha certeza, já que ela acabara de dizer, por exemplo, que jamais teria levado uma criança a um restaurante.
– Desculpe-me, meu pequeno Jean... Quase nunca penso no passado.
Hesitou por um instante.
– Passei por momentos difíceis naquele tempo... Você se lembra da Colette?
Esse nome despertou nele uma vaga reminiscência, tão inatingível como um reflexo que passa veloz por uma parede e logo desaparece.
– Colette... Colette Laurent. Havia um retrato dela no meu quarto em Saint-Leu-la-Forêt. Ela tinha posado para alguns pintores... Era uma amiga minha de adolescência.
Ele se lembrava muito bem daquele quadro exposto entre as duas janelas. Uma jovem apoiada numa mesa com um cotovelo, o queixo na palma da mão.
– Foi assassinada em um hotel, em Paris... Nunca se soube o autor... Costumava frequentar Saint-Leu-la-Forêt.
Quando Annie voltava de Paris, por volta das duas horas da manhã, ele ouvia, no corredor, várias vezes, algumas gargalhadas. Isso significava que ela não estava só. Depois, a porta do quarto se fechava, e murmúrios lhe chegavam através das paredes. Certa manhã, eles foram a Paris com a tal Colette Laurent, no carro de Annie. Ela estava sentada no banco da frente, ao lado de Annie, e ele sozinho no banco de trás. Passearam no jardim dos Champs-Elysées, onde se realiza a feira de selos. Pararam diante de uma barraca, e Colette Laurent o presenteou com um estojo de selos, uma série, em diversas cores, com o rosto do rei do Egito. Foi a partir desse dia que ele começou a colecionar selos. Pode ser que o álbum em que passou a organizá-los sob as folhas de papel de seda estivesse na maleta amarela de papel machê. Fazia dez anos que não abria a maleta. Não podia separar-se dela, mas se sentia aliviado, mesmo assim, por ter perdido a sua chave.
Em outro dia, também na companhia de Colette Laurent, visitaram uma pequena cidade do outro lado da floresta de Montmorency. Annie estacionou o carro na frente de uma espécie de pequeno castelo, e ela lhe contou que ali ficava o pensionato onde ela e Collete Laurent tinham se conhecido. Visitaram com ele o pensionato, guiadas pela diretora. As salas de aula e os dormitórios estavam vazios.
– Então, você não se lembra de Colette?
– Sim... claro – disse Daragane. – Vocês se conheceram em um pensionato.
Ela o fitou surpresa.
– Como sabe disso?
– Você me levou, uma tarde, para conhecer esse pensionato.
– Tem certeza? Não me lembro disso.
– Ficava no outro lado da floresta de Montmorency.
– Nunca levei você ali com Colette.
Não quis desmenti-la. Talvez pudesse encontrar alguma explicação naquele livro que o médico lhe autografara, aquele pequeno livro de capa branca sobre o esquecimento.
Caminhavam agora ao longo da aleia, em torno da praça de Renelagh. O escuro da noite, as árvores e a presença de Annie, que segurava um de seus braços, trouxeram-lhe a sensação de estar passeando com ela como antigamente, na floresta de Montmorency. Ela tinha estacionado o veículo em uma encruzilhada, e ambos seguiram a pé até o lago de Fossombrone. Recorda-se dos nomes: encruzilhada do Chêne aux Mouches. Encruzilhada da Pointe. Um dos nomes o fazia tremer de medo: cruz do príncipe de Condé. Na pequena escola onde ela o matriculara e aonde ia frequentemente para buscá-lo às quatro e meia da tarde, a professora tinha falado desse príncipe, que fora encontrado pendurado com uma corda no pescoço em seu quarto do castelo de Saint-Leu, sem que jamais tivessem sido esclarecidas as circunstâncias de sua morte. Ela o chamava de “o último dos Condés”.
– Em que está pensando, meu pequeno Jean?
Apoiava a cabeça no seu ombro, e Daragane sentiu vontade de dizer que estava pensando no “último dos Condés”, na escola e nos passeios pela floresta. Mas temeu que ela mais uma vez lhe respondesse: “Não... você está enganado... Não me lembro de nada disso.” Ele também, naqueles últimos quinze anos, acabara por esquecer-se de tudo.
– Você precisa me mostrar onde mora agora... Adoraria passear pelo bairro da Place Blanche com você.
Será que ela não se lembrava de que estivera com ele por alguns dias naquele bairro antes da partida de trem para o Midi? Mais uma vez, porém, não se atreveu a fazer-lhe a pergunta.
– Você vai achar o meu quarto pequeno demais – disse Daragane. – Além disso, não tem aquecimento.
– Não importa. Você não imagina como eu e meu irmão, Pierre, tremíamos de frio no inverno nesse bairro quando éramos jovens.
Ao menos essa lembrança não lhe era dolorida, já que riu bastante ao mencioná-la.
Chegaram ao fim da aleia, perto da Porta da Muette. Ele se perguntou se aquele aroma de outono, de folhas e de terra úmida não provinha do bosque de Boulogne. Ou até, através do tempo, da floresta de Montmorency.
Fizeram um contorno para chegar ao que ela chamava, com leve tom de ironia, de seu “domicílio”. À medida que caminhavam, ele se sentia tomado por uma leve amnésia. Chegou a se perguntar quanto tempo fazia que estava em companhia daquela desconhecida. Talvez tivesse acabado de conhecê-la, na aleia do parque ou na frente de um daqueles prédios de fachadas escuras. E, se ele por acaso notava alguma luz, era sempre na janela de algum último andar, como se alguém tivesse partido havia muito tempo esquecendo-se de apagar a luz.
Ela apertou-lhe o braço. Como se quisesse ter certeza de sua presença.
– Sempre que volto para casa a pé a esta hora, sinto medo... Já não sei onde estou exatamente.
E era verdade: atravessava-se ali um no man’s land, ou, melhor ainda, uma zona neutra em que nos sentimos isolados de tudo.
– Se você precisa comprar um maço de cigarros ou encontrar uma farmácia aberta à noite... Imagine... Aqui isso é muito difícil.
Mais uma gargalhada. E sua risada, junto com o barulho de seus passos, ressoavam naquelas ruas – uma das quais levava o nome de um escritor totalmente esquecido.
Tirou do bolso do sobretudo um molho de chaves e experimentou várias delas na fechadura da porta de entrada até encontrar a certa.
– Jean, você pode me acompanhar até lá em cima? Tenho medo dos fantasmas...
Estavam na entrada de piso branco e preto. Ela abriu uma porta dupla.
– Quer que eu lhe mostre o térreo?
Uma sequência de cômodos vazios. Paredes de madeira clara e grandes portas de vidro. Uma iluminação branca provinha de luminárias incrustadas nas paredes, bem perto do teto.
– Aqui deviam ser a sala de estar, a copa e a biblioteca... Houve uma época em que Roger Vincent armazenava mercadorias aqui.
Fechou a porta, pegou-o pelo braço e conduziu-o até a escadaria.
– Quer conhecer o segundo andar?
Abriu de novo uma porta e acendeu a luz que saía das mesmas luminárias de parede quase na altura do teto. Um cômodo vazio, como os do térreo. Fez deslizar um dos lados da porta onde havia uma rachadura no vidro. Um grande terraço se abriu, dando sobre as árvores do jardim.
– Era a sala de ginástica do antigo proprietário... Aquele que morava aqui antes da guerra.
Daragane observou vários buracos no piso, um piso que lhe pareceu ter consistência de cortiça. Na parede estava afixado um móvel de madeira com fendas que sustentavam pequenos halteres.
– Há muitos fantasmas aqui... nunca venho aqui sozinha.
No primeiro andar, diante da porta, ela colocou a mão sobre o ombro dele.
– Jean, você pode ficar aqui comigo esta noite?
Conduziu-o pelo cômodo que fazia as vezes de sala de estar. Não acendeu a luz. No sofá, inclinou-se para murmurar a seu ouvido:
– Você vai me acolher no seu quarto da Place Blanche quando eu tiver de sair daqui?
Acariciou-lhe a testa. E de novo em voz baixa:
– Faça como se a gente não se conhecesse de antes. É fácil...
Sim, afinal de contas era fácil, já que ela tinha dito que trocara o sobrenome, e até o nome.
Por volta de onze da noite o telefone no escritório tocou, mas ele não atendeu, esperando que deixassem algum recado na secretária eletrônica. Uma respiração inicialmente regular e depois cada vez mais entrecortada, e uma voz distante que não conseguia distinguir se era de homem ou de mulher. Um gemido. Depois, a volta da respiração, e duas vozes misturadas cochichando palavras que ele não conseguia identificar. Desligou a secretária e desconectou o cabo do telefone. Quem seria? Chantal Grippay? Gilles Ottolini? Os dois juntos?
Decidiu, por fim, aproveitar o silêncio da noite para reler, por uma última vez, todas as páginas do “dossiê”. Mal começou a leitura, porém, teve uma sensação desagradável: as frases se encavalavam, enquanto outras frases surgiam subitamente, encobrindo as anteriores, desaparecendo em seguida sem lhe dar tempo para decifrá-las. Estava diante de um palimpsesto em que todas as sucessivas inscrições se misturavam e se moviam como bacilos vistos em um microscópio. Atribuiu o fenômeno ao cansaço, e fechou os olhos.
Ao reabri-los, viu-se diante da fotocópia do trecho de No escuro do verão em que aparecia o nome de Guy Torstel. À parte o episódio da cabine fotográfica – episódio que ele extraíra da vida real –, não tinha nenhuma lembrança de seu primeiro livro. A única que ainda guardava na cabeça era a das primeiras vinte páginas que ele mesmo excluiria mais tarde. Até desistir delas, essas páginas haviam sido, em sua mente, o começo do livro. Criara até um título para esse primeiro capítulo: “Retorno a Saint-Leu-la-Forêt.” Estariam essas vinte páginas enterradas para sempre em alguma caixa de papelão ou em alguma mala antiga? Ou ele as rasgara? Já não sabia.
Antes de escrevê-las, sentira necessidade de, passados quinze anos, ir por uma última vez a Saint-Leu-la-Forêt. Não se tratava de uma peregrinação, mas de uma visita que o ajudaria a escrever o começo do livro. E meses depois, na noite em que esteve com ela já depois do lançamento do livro, nada comentou com Annie Astrand sobre esse “retorno a Saint-Leu-la-Forêt”. Teve medo de que dissesse, erguendo os ombros: “Mas que ideia esquisita essa de voltar lá, meu pequeno Jean...”
Certa tarde, então, alguns dias depois de conhecer Torstel no hipódromo, ele pegara um ônibus na Porta de Asnières. O subúrbio já estava bastante mudado nessa época. O itinerário seria o mesmo que Annie Astrand percorria ao voltar de carro de Paris? O ônibus passava sob a via férrea perto da estação de Ermont. E, no entanto, mais de quarenta anos depois, ele agora se perguntava se esse passeio não fora, na verdade, um sonho. Provavelmente essa confusão derivasse do fato de ter feito desse percurso objeto de um capítulo de um romance. Subira de volta a avenida de Saint-Leu e atravessara a praça da fonte... Pairava no ar uma névoa amarelada que ele supunha vir da floresta. Na rua do Ermitage, teve certeza de que a maioria das casas ainda não tinha sido construída na época de Annie Astrand; em vez delas, havia árvores dos dois lados, cujas copas, ao se encontrarem, formavam uma espécie de abóbada. Estaria mesmo em Saint-Leu? Acreditou reconhecer a parte da casa que dava para a rua e o grande alpendre sob o qual muitas vezes Annie estacionava o carro. O muro que havia mais adiante, porém, tinha desaparecido, dando lugar a uma construção comprida de concreto.
Na frente, protegida por uma grade, um sobrado com uma bow-window e a fachada coberta por hera. Na grade, uma placa: “Dr. Louis Voustraat”. Ele se lembrou de uma manhã em que Annie o levara depois da aula a esse médico e também que esse mesmo médico viera visitá-lo uma noite em casa, no seu quarto, quando estava doente.
Hesitou por alguns instantes no meio da rua. Decidido, empurrou o portão que dava para um pequeno jardim e subiu os degraus da entrada da casa. Tocou a campainha e aguardou. Na fresta da porta entreaberta viu um homem alto, de cabelos brancos e curtos, olhos azuis. Não o reconheceu.
– Dr. Voustraat?
Este fez um movimento de surpresa, como se Daragane acabasse de tirá-lo de um sono profundo.
– Hoje não dou consultas...
– Queria apenas falar com o senhor.
– Sobre o quê, meu senhor?
Nenhuma desconfiança havia nessa pergunta. O tom era amável, e o timbre da voz tinha algo de tranquilizador.
– Estou escrevendo um livro sobre Saint-Leu-la-Forêt. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas.
Daragane estava tão intimidado que lhe pareceu ter gaguejado ao pronunciar essa frase. O homem o recebeu com um sorriso:
– Pode entrar, senhor.
Conduziu-o a uma sala onde ardia o fogo de uma lareira e indicou-lhe uma poltrona de frente para a bow-window. Sentou-se depois ao lado dele, numa poltrona parecida com a outra, forrada com o mesmo tecido escocês.
– Quem lhe deu a ideia de me procurar?
Sua voz era tão grave e tão suave que seria capaz de arrancar em pouco tempo a confissão do mais astuto e endurecido dos criminosos. Foi ao menos o que passou pela cabeça de Daragane.
– Vi a sua placa ao passar pela rua. E pensei que um médico sempre conhece bem o local onde atua...
Esforçou-se para falar de forma clara, apesar do desconforto que sentia, e optou pela palavra “local” em vez de “aldeia”, que lhe viria de início naturalmente à cabeça. Pois Saint-Leu-la-Forêt já não era a “aldeia” da sua infância.
– Pois o senhor acertou. Atuo aqui há vinte e cinco anos.
Ergueu-se e se dirigiu a uma estante na qual Daragane viu uma caixa com licores.
– Quer beber alguma coisa? Um pouco de Porto?
Deu um copo a Daragane e voltou para o seu lugar, ao lado dele, na poltrona de tecido escocês.
– Então o senhor está escrevendo um livro sobre Saint-Leu-la-Forêt... Que boa ideia!
– Bem... é uma brochura, para uma coleção sobre várias localidades da Île-de-France...
Buscava mencionar mais detalhes para ganhar a confiança do dr. Voustraat.
– Dedico um capítulo inteiro à morte misteriosa do último príncipe Condé, por exemplo.
– Vejo que o senhor conhece bem a história da nossa pequena cidade.
O dr. Voustraat fitava-o com seus olhos azuis, sorrindo, tal como fizera quinze anos antes, ao lhe auscultar o corpo no quarto da casa em frente. Tinha sido por causa de uma gripe ou por uma dessas doenças infantis de nome tão complicado?
– Preciso de informações que não sejam meramente registros históricos. Casos sobre alguns moradores da cidade, por exemplo – disse Daragane, espantando-se consigo próprio por ter conseguido pronunciar até o fim e com segurança uma frase tão longa.
O dr. Voustraat parecia pensativo, os olhos fixos numa acha que se consumia lentamente na lareira.
– Tivemos alguns artistas aqui em Saint-Leu-la-Forêt – disse ele, balançando a cabeça, com se refrescasse a memória. – A pianista Wanda Landowska... Também o poeta Olivier Larronde.
– Posso anotar os nomes? – perguntou Daragane.
Tirou de um bolso do paletó uma esferográfica e o caderno de anotações preto que trazia sempre consigo desde que começara a escrever o livro. Anotava ali pedaços de frases ou títulos possíveis para o seu romance. Com bastante zelo, escreveu em letras maiúsculas: WANDA LANDOWSKA. OLIVIER LARRONDE. Queria mostrar ao dr. Voustraat que tinha hábitos de estudioso.
– Obrigado pelas informações.
– Outros nomes certamente me ocorrerão...
– É muita gentileza sua – disse Daragane. – Por acaso o senhor se recorda de algum caso policial que tenha acontecido em Saint-Leu-la-Forêt?
– Caso policial?
Aparentemente a expressão pegou o dr. Voustraat de surpresa.
– Não um crime, é claro, mas alguma coisa suspeita que tenha ocorrido aqui... Falaram-me de uma casa, bem aqui, na frente da sua, onde viviam pessoas esquisitas...
Pronto. Chegava à questão central de uma forma mais rápida do que ele mesmo tinha previsto.
O dr. Voustraat fitou-o novamente com seus olhos azuis, em que Daragane sentia se manifestar agora certa desconfiança.
– Qual casa da frente?
Ficou em dúvida se não teria ido longe demais. Mas por quê? Não tinha ele o aspecto de um jovem bem-educado que simplesmente pretendia escrever uma brochura sobre Saint-Leu-la-Forêt?
– A casa que fica um pouco à direita, com aquele alpendre grande...
– Está falando do leprosário?
Daragane tinha se esquecido desse nome, que lhe provocava uma pontada no coração. Teve a sensação fugidia de passar sob o alpendre da casa.
– Isso mesmo... O leprosário – e, ao pronunciar essas sílabas, sentiu uma espécie de mal-estar, ou, mais do que isso, de medo, como se o leprosário estivesse ligado, para ele, a um pesadelo.
– Quem lhe falou do leprosário?
Foi pego no pulo. Teria sido melhor dizer toda a verdade ao dr. Voustraat. Agora era tarde demais. Deveria tê-lo feito antes, ainda na escadaria da casa. “O senhor cuidou de mim muito tempo atrás, quando eu era criança.” Não, não, ele se sentiria um impostor a roubar a identidade de outra pessoa. Pois aquela criança, hoje, lhe parecia um ser estranho.
– O dono do restaurante Ermitage.
Disse isso completamente ao acaso, para não deixar a pergunta no ar. Será que esse estabelecimento ainda existia? Pior: teria existido de verdade ou apenas em suas lembranças?
– Ah, sim, o restaurante Ermitage. Pensei que ele já não se chamasse assim hoje em dia... Faz muito tempo que o senhor conhece Saint-Leu?
Daragane sentiu uma vertigem, dessas que tomam conta do corpo quando estamos à beira de fazer uma confissão que mudará o curso de nossa vida. Ali, no ponto mais elevado, basta se deixar levar para baixo, como num escorregador. Ao fundo do grande jardim do leprosário havia, justamente, um escorregador, instalado provavelmente pelos antigos proprietários e cuja rampa estava enferrujada.
– Não. É a primeira vez que venho a Saint-Leu-la-Forêt.
A noite caía lá fora. O dr. Voustraat se levantou para acender a luz e atiçar o fogo.
– Parece inverno. O senhor viu a neblina que havia? Ainda bem que acendi a lareira...
Sentou-se de volta na poltrona e se inclinou para Daragane.
– O senhor teve sorte de bater à minha porta justamente hoje. É meu dia de folga. E devo dizer também que tenho reduzido muito a quantidade de visitas em domicílio.
A palavra “visitas” seria uma indireta para fazê-lo entender que o doutor o havia reconhecido? Mas se tinham feito tantas visitas em domicílio naqueles últimos quinze anos, e muitas consultas no pequeno cômodo ao fundo do corredor que fazia as vezes de consultório do dr. Louis Voustraat, que não havia como ele reconhecer todos os rostos. Além disso, raciocinou Daragane, como estabelecer qualquer semelhança entre aquele menino e ele próprio na atualidade?
– É verdade... No leprosário viviam pessoas realmente muito esquisitas. Mas acha que seria realmente útil eu lhe falar disso?
Daragane sentiu que essas palavras anódinas escondiam outras por trás. Como no rádio, quando ocorre uma interferência e duas vozes se sobrepõem. Pareceu-lhe ter ouvido também: “Por que o senhor voltou a Saint-Leu depois de quinze anos?”
– Essa casa parece até que foi amaldiçoada... Talvez por causa do nome...
– O nome?
O dr. Voustraat sorriu.
– O senhor sabe o que significa “leprosário”?
– Claro que sim – disse Daragane.
Na verdade não sabia, mas teve vergonha de admiti-lo para o dr. Voustraat.
– Antes da guerra, vivia ali um médico, como eu, mas que deixou Saint-Leu... Depois, na mesma época em que eu cheguei aqui, um certo Lucien Führer começou a vir para cá regularmente... Era dono de uma casa noturna em Paris... Havia muito movimento... e foi a partir de então que a casa passou a ser frequentada por pessoas bem esquisitas... até o fim dos anos 50...
Daragane anotava as palavras do médico, uma a uma, em seu caderno. Era como se ele fosse lhe revelando o segredo de sua própria origem, tudo sobre aqueles anos do começo de sua vida que foram totalmente esquecidos – à exceção de um ou de outro detalhe que remonta por vezes das profundezas, como uma rua coberta por uma abóbada de folhas, um perfume, um nome familiar que já não se sabe a quem teria pertencido, um escorregador.
– Esse Julien Führer desapareceu de um dia para outro, e a casa foi comprada por um certo Vincent... Roger Vincent, se não me falha a memória... Tinha um carro americano conversível que sempre estacionava na rua.
Passados quinze anos, Daragane já não tinha certeza quanto à cor daquele carro. Bege? Sim, certamente. Com bancos de couro vermelho. O dr. Voustraat se lembrava de que era um conversível e, se não lhe falhasse a memória, também poderia confirmar a cor bege. Mas Daragane temia despertar-lhe alguma desconfiança caso fizesse a pergunta.
– Não saberia lhe dizer exatamente qual era a profissão desse senhor Roger Vincent... talvez fosse a mesma de Lucien Führer... Era um quarentão que vinha regularmente de Paris...
Naquele tempo, parecia a Daragane que Roger Vincent nunca ficava para dormir na casa. Passava o dia em Saint-Leu-la-Forêt e ia embora depois do jantar. De sua cama, ele ouvia o motor do carro ser ligado, um som diferente daquele do carro de Annie. Um barulho ao mesmo tempo mais forte e mais surdo.
– Dizia-se que ele era meio americano ou que tinha morado por muito tempo nos Estados Unidos... tinha jeito de americano... Robusto... um porte esportivo... Cheguei a atendê-lo um dia... acho que tinha tido uma luxação no punho...
Daragane não se lembrava de nada disso. Certamente teria ficado impactado se tivesse visto Roger Vincent portar um curativo ou um gesso.
– Também moravam lá uma jovem e uma criança... Ela não tinha idade para ser mãe dessa criança... Eu achava que fosse a irmã mais velha... Podia ser filha do tal Roger Vincent...
Filha de Roger Vincent? Não, essa ideia jamais lhe ocorrera. Nunca se questionara a respeito da exata relação que havia entre Roger Vincent e Annie. Deve-se saber, costumava dizer a si mesmo, que as crianças não se fazem perguntas. Muitos anos depois, procuramos solucionar certos enigmas que não existiam como tais naqueles momentos, ou então buscamos decifrar as letras já parcialmente apagadas de uma língua demasiadamente antiga de que ignoramos até o alfabeto.
– Era uma casa muito movimentada... Às vezes chegavam pessoas no meio da noite...
Naquela época, Daragane dormia bem – era o sono da infância –, à exceção das noites em que ficava à espreita, aguardando o retorno de Annie. Com frequência, ao longo da madrugada, ouvia a batida de portas de automóveis e vozes espalhadas, mas logo voltava a dormir. A casa era ampla, com diferentes edificações. Não podia saber quem estava por lá. De manhã, ao sair para ir à escola, notava alguns veículos estacionados na frente do alpendre. Na parte da casa onde ficava o seu quarto, ficava também o de Annie, do outro lado do corredor.
– Na sua opinião, quem eram essas pessoas? – perguntou ao dr. Vourstaat.
– Houve uma busca na casa, mas já tinham desaparecido com tudo... Fui interrogado, por ser o vizinho mais próximo. Aparentemente, esse Roger Vincent estava envolvido em um caso que foi chamado de “O Combinatie”. Li alguma coisa sobre esse nome em algum lugar, mas não saberia lhe dizer o que significa. Confesso que não sou muito interessado em casos policiais.
Será que Daragane gostaria mesmo de saber mais do que aquilo que o dr. Voustraat sabia? Um fiapo de luz que vemos com dificuldade sob uma porta fechada e que assinala a presença de alguém. Mas ele não tinha vontade de abrir a porta para descobrir quem estaria no quarto ou, provavelmente, no armário. Súbito lhe veio à mente uma expressão: “o cadáver no armário”. Não, ele não queria saber o que a palavra “combinatie” encobria. Desde a infância, tinha um pesadelo que se repetia. Inicialmente, um alívio enorme ao despertar, como se tivesse escapado de algum perigo; depois, o pesadelo ficava aos poucos mais preciso: ele fora cúmplice ou testemunha de algo grave ocorrido no passado; tinham prendido algumas pessoas; nunca fora identificado, mas vivia sob a ameaça de ser interrogado quando se dessem conta de seus laços com os “culpados”; e seria impossível, para ele, responder às perguntas.
– E a jovem com a criança? – perguntou ao dr. Voustraat.
Tinha ficado surpreso, momentos antes, quando o doutor dissera: “eu achava que fosse a irmã mais velha.” Talvez se abrisse ali um novo horizonte em sua vida, dissipando as zonas cinzentas: pais falsos de quem mal se recordava e que aparentemente queriam se livrar dele. E aquela casa em Saint-Leu-la-Forêt... Às vezes ele mesmo se perguntava o que estava fazendo ali. Começaria a pesquisar já no dia seguinte. Antes de mais nada, era preciso encontrar a certidão de nascimento de Annie Astrand. E também a sua própria certidão. Mas não bastaria uma reprodução datilografada; precisaria consultar diretamente o registro, onde tudo está escrito à mão. Nas poucas linhas referentes ao seu nascimento, encontraria rasuras, emendas, nomes que alguém tentara apagar.
– Costumava estar sozinha com o menino... Fizeram-me perguntas sobre ela também depois da busca na casa... Segundo as pessoas que me interrogaram, ela era uma “dançarina acrobática”...
Pronunciou as duas últimas palavras baixinho.
– É a primeira vez que eu falo dessa história depois de muito tempo... Além de mim, ninguém sabia realmente de nada disso em Saint-Leu... Eu era o vizinho mais próximo... Mas, como o senhor vê, não eram bem pessoas do meu mundo...
Sorriu para Daragane, um sorriso um tanto irônico, e Daragane sorriu também ao pensar que aquele homem de cabelos brancos curtos, de porte militar, e sobretudo com o olhar azul mais franco, fora – como ele mesmo dizia – o seu vizinho mais próximo.
– Imagino que o senhor não vá usar essas coisas todas no seu trabalho sobre Saint-Leu... Caso contrário, precisaria ir atrás de mais detalhes nos arquivos da polícia. Mas, francamente, acha que vale a pena?
A pergunta surpreendeu Daragane. Tê-lo-ia o dr. Voustraat reconhecido e posto a nu? “Mas, francamente, acha que vale a pena?” Dissera isso de forma gentil, em tom de advertência paternal ou mesmo de conselho familial – um conselho de alguém que nos conheceu na infância.
– Certamente que não – disse Daragane. – Seria algo deslocado em um simples trabalho sobre Saint-Leu-la-Forêt. A rigor, até daria um romance.
Introduzira o pé em uma rampa escorregadia, e estava quase a ponto de descer por ela: confessar ao dr. Voustraat o verdadeiro motivo pelo qual tinha batido à sua porta. Poderia até lhe dizer: “Doutor, passemos ao consultório, como antigamente... para fazer a consulta... Ainda fica no fundo do corredor?”
– Romance? Seria preciso conhecer todos os protagonistas. Passaram muitas pessoas por essa casa. Os homens que me interrogaram tinham uma lista de nomes e me citavam um por um... Mas eu não conhecia nenhum deles.
Daragane adoraria pôr a mão nessa lista. Ela certamente o ajudaria a encontrar alguma pista sobre Annie. Mas aquela gente toda tinha se escondido por aí trocando de sobrenome, de nome e de rosto. A própria Annie já não devia se chamar Annie, se é que ainda estava viva.
– E o menino? – perguntou Daragane. – Teve notícias dele?
– Nenhuma. Muitas vezes me perguntei o que teria sido dele. Um modo estranho de começar a vida.
– Provavelmente, tinham-no matriculado em alguma escola...
– Sim. Na escola da Forêt, na rua de Beuvron. Lembro-me de ter escrito um bilhete para justificar uma vez a sua ausência por causa de uma gripe.
– Talvez se possa encontrar na escola algum registro da sua passagem por lá.
– Infelizmente não. A escola da Forêt foi demolida há uns dois anos. Era uma escola muito pequena, sabe...
Daragane lembrou-se do pátio de recreio. Seu piso de carvão mineral, os plátanos e o contraste que havia nas tardes de sol entre o verde da folhagem e a cor escura do chão. Para isso nem precisou fechar os olhos.
– A escola já não existe, mas posso levá-lo para conhecer a casa.
Mais uma vez teve a sensação de que o dr. Voustraat já sabia quem ele era. Não, não era possível. Já não havia nada em comum entre ele e aquele menino que abandonara junto com os outros, com Annie, com Roger Vincent e com os sujeitos que apareciam de noite, de carro, cujos nomes figuravam naquela lista – lista de passageiros de um barco afundado.
– Deixaram comigo uma cópia da chave para o caso de algum paciente que tenha interesse em conhecê-la. Está à venda. Mas até agora não apareceram muitos clientes. Quer que eu o leve lá?
– Outra vez.
O dr. Voustraat pareceu decepcionado. No fundo, pensou Daragane, ele ficou contente de me receber e conversar. Deve ser uma pessoa solitária, ainda mais nessas tardes intermináveis de folga.
– Tem certeza? Não lhe interessa? É uma das casas mais antigas de Saint-Leu... Como diz o nome, foi construída no lugar onde ficava um velho leprosário... pode ser útil para o seu livro.
– Outro dia – disse Daragane. – Prometo voltar aqui.
Não tinha coragem de entrar na casa. Preferia que ela continuasse a ser para ele um desses lugares que nos foram um dia familiares e que às vezes ocorre visitarmos em sonhos: na aparência, são os mesmos, mas ficam impregnados de alguma coisa insólita. Um véu ou uma luz direta demais... E, nesses sonhos, cruzamos com pessoas de quem gostávamos e que sabemos estarem mortas. Se lhes dirigimos a palavra, elas não ouvem a nossa voz.
– Os móveis são os mesmos de quinze anos atrás?
– Está desmobiliada – disse o dr. Voustraat. – Todos os cômodos estão vazios. O jardim virou uma verdadeira mata virgem.
O quarto de Annie, do outro lado do corredor, de onde, em seu meio-sono, chegavam-lhe sons de vozes e de gargalhadas. Ela estava com Colette Laurent. Mas, frequentemente, a voz e o riso eram de um homem que ele nunca vira na casa durante o dia. Esse homem devia partir bem cedo pela manhã, antes da hora da escola. Um desconhecido, que assim permaneceria para sempre. Outra lembrança, mais precisa, ocorreu-lhe sem que tivesse feito nenhum esforço para isso, como as palavras de canções que aprendemos na infância e que podemos recitar a vida inteira sem entender o que significam. As duas janelas do seu quarto davam para a rua – que não era a mesma de agora –, uma rua sombreada por árvores. Na parede branca, em frente à sua cama, uma gravura colorida de flores, de frutas e de folhas, com a seguinte legenda: BELADONA E MEIMENDRO. Muito depois ele viria a saber que se tratava de plantas venenosas, mas, naquele momento, o que lhe interessava era decifrar as letras: beladona e meimendro, as primeiras palavras que aprendeu a ler. Havia outra gravura, entre as duas janelas: um touro negro, com a cabeça abaixada, que o fitava com olhar melancólico. A inscrição dizia TOURO DOS PÔLDERES DE HOLSTEIN em letras menores e mais difíceis de ler que as de beladona e de meimendro. Mas ele conseguiu lê-las depois de alguns dias, chegando até a copiar todas essas palavras em um bloco de papel de cartas que Annie lhe dera.
– Doutor, se entendi bem, eles não encontraram nada na busca...
– Não sei. Vasculharam a casa de alto a baixo durante dias. Deviam ter escondido alguma coisa ali...
– Os jornais da época não publicaram nada sobre essa busca?
– Não.
Nesse instante, um projeto quimérico atravessou a mente de Daragane: ele mesmo compraria aquela casa, usando para isso o dinheiro dos direitos autorais do livro de que escrevera até ali apenas duas ou três páginas. Depois, selecionaria as ferramentas necessárias: chaves de fenda, martelos, pés de cabra, alicates, e ele mesmo faria, dias a fio, uma busca minuciosa. Aos poucos, arrancaria os lambris da sala e dos quartos e quebraria os espelhos para ver o que ocultavam. Procuraria escadas secretas e portas camufladas. E acabaria encontrando aquilo que havia perdido e sobre o qual jamais pudera falar com ninguém.
– O senhor veio até aqui de ônibus? – perguntou o dr. Voustraat.
– Sim.
O médico consultou as horas no relógio de pulso.
– Infelizmente eu não teria como levá-lo de carro até Paris. E o último ônibus para a Porta de Asnières parte em vinte minutos.
Caminhando juntos pela rua do Ermitage, passaram na frente da edificação de concreto erguida no lugar do antigo muro do jardim, mas Daragane não sentiu vontade de comentar nada sobre esse muro agora desaparecido.
– Quanta neblina – disse o doutor. – O inverno já chegou...
Avançaram em silêncio, lado a lado, o médico bastante ereto, rígido, com o porte de um ex-oficial de cavalaria. Daragane não se lembrava de ter caminhado assim, de noite, na infância, pelas ruas de Saint-Leu-la-Forêt. Com exceção de uma vez, no Natal, quando Annie o levara, meia-noite, à Missa do Galo.
O ônibus o aguarda, com o motor ligado. Aparentemente, era o único passageiro.
– Foi muito bom ter conversado a tarde inteira com o senhor – disse o médico, estendendo-lhe a mão. – E gostaria de receber notícias do seu livrinho sobre Saint-Leu.
No momento em que Daragane ia embarcar no ônibus, o doutor segurou-o pelo braço.
– Pensei uma coisa... sobre o leprosário e essas pessoas esquisitas de que falamos... Talvez a melhor testemunha possa ser aquele menino que morava lá... O senhor precisa encontrá-lo... Não acha?
– Seria muito difícil, doutor.
Sentou-se bem no fundo do ônibus e olhou através do vidro de trás. O dr. Voustraat ficara parado ali, provavelmente aguardando que o ônibus desaparecesse na primeira curva. Fez-lhe um aceno de despedida com a mão.
Em seu escritório, resolveu recolocar na tomada o telefone e a secretária eletrônica para o caso de Chantal Grippay tentar contatá-lo. Certamente, desde que retornara do Cassino de Charbonnières, Ottolini não a largava nem por um segundo. Ela precisava pegar de volta o vestido preto com as andorinhas, pendurado ali, sobre o encosto do sofá, como esses objetos que não querem nos deixar e nos perseguem a vida inteira. Como aquele Volkswagen azul de sua juventude, do qual teve de se livrar depois de alguns anos. No entanto, toda vez que mudava de casa, encontrava-o estacionado na frente do seu prédio – e isso acontecera durante um bom tempo. O automóvel se mantinha fiel a ele, perseguindo-o por todas as partes. Tinha, no entanto, perdido as suas chaves. De repente, um dia, ele desapareceu, talvez em um daqueles cemitérios de automóveis atrás da Place d’Italie, onde depois se começou a construir a rodovia do Sul.
Queria encontrar “Retorno a Saint-Leu-la-Forêt”, o primeiro capítulo de seu livro. A busca, porém, seria vã. Nessa noite, enquanto contemplava a copa da espirradeira do pátio do prédio vizinho, ele dizia a si mesmo que tinha rasgado esse capítulo. Tinha certeza disso.
Descartara também um segundo capítulo: “Place Blanche”, escrito em seguida a “Retorno a Saint-Leu-la-Forêt”. Dessa forma, retomara tudo desde o início, com a dolorosa sensação de ter de corrigir um começo totalmente equivocado. E, no entanto, as únicas lembranças que guardava desse primeiro romance eram os dois capítulos descartados, que haviam servido de pilares para o restante, ou, mais exatamente, de andaimes, que são retirados uma vez concluído o livro.
Escrevera as vinte páginas de “Place Blanche” em um quarto de um antigo hotel na rua Coustou, 11. Morava de novo no baixo Montmartre, quinze anos depois de ter conhecido a área por causa de Annie. Com efeito, eles tinham se mudado para lá ao deixar Saint-Leu-la-Forêt. E ele achava que seria mais fácil escrever um livro se voltasse aos lugares que tinha conhecido com ela.
Deveriam ter mudado de aspecto desde aqueles tempos, mas não foi bem assim que ele os encontrou. Certa tarde, quarenta anos depois, no século XXI, passou por acaso, de táxi, pelo bairro. O carro tinha parado em um engarrafamento, na esquina do bulevar de Clichy com a rua Coustou. Nada reconhecera durante alguns minutos, como se tivesse sido atingido por uma amnésia e se transformado em um estrangeiro em sua própria cidade. Mas isso não tinha nenhuma importância para ele. Pois, com o passar dos anos, as fachadas dos prédios e os cruzamentos tinham se tornado uma paisagem interior, que acabava se sobrepondo à Paris uniforme e como que empalhada dos dias de hoje. Acreditou estar vendo, à direita, a placa do estacionamento da rua Coustou, e adoraria pedir ao motorista de táxi que o deixasse ali mesmo para que ele pudesse retornar, depois de quarenta anos, ao seu velho quarto.
Naqueles tempos, em um andar acima do seu, dera-se início a uma reforma que transformaria os velhos quartos do hotel em pequenos estúdios. Para escrever o seu livro sem ouvir os golpes dos martelos contra as paredes, ele se refugiava em um café da rua Puget, na esquina com a Coustou, visível justamente da janela do seu quarto.
Não havia nenhum freguês à tarde no estabelecimento, chamado Aero – mais bar do que café, a julgar pelos lambris claros, pelo teto com caixotões, pela fachada de madeira também clara com um vitral protegido por uma espécie de grade saliente. Atrás do balcão ficava um homem de seus quarenta anos, lendo um jornal; de vez em quando, ao longo da tarde, desaparecia por uma escadinha. Na primeira vez, Daragane ficou chamando-o em vão para pagar a conta. Depois, acostumou-se com a sua ausência e deixava sempre uma nota de cinco francos em cima da mesa.
Teve de esperar vários dias até que esse homem se dignasse a lhe dirigir a palavra. Antes disso, ignorava-o solenemente. Toda vez que Daragane lhe pedia um café, o outro parecia não ouvi-lo, e Daragane se espantava com que, no final, o homem sempre se dirigia para a cafeteira. Depois, colocava a xícara de café sobre a mesa sem nem sequer olhar para seu rosto. Daragane sentava-se bem no fundo do salão, como se ele mesmo quisesse ser esquecido.
Certa tarde, quando acabava de revisar uma página de seu manuscrito, ouviu uma voz grave:
– Então, está fazendo suas contas?
Ergueu a cabeça. Ali, atrás do balcão, o outro lhe sorria.
– O senhor vem numa hora ruim. Aqui à tarde é um deserto.
E avançou até a mesa, com o mesmo sorriso irônico.
– Permite?
Puxou a cadeira e se sentou de frente para ele.
– O que o senhor escreve, na verdade?
Daragane hesitou.
– Um romance policial.
O outro moveu a cabeça, fitando-o com um olhar incômodo.
– Moro no prédio da esquina, mas estão fazendo uma reforma e há barulho demais para trabalhar.
– O antigo hotel Puget? Na frente do estacionamento?
– Sim – disse Daragane. – E o senhor está aqui há muito tempo?
Tinha o hábito de desviar o assunto, para evitar falar de si. Seu método era sempre responder a uma pergunta com outra pergunta.
– Sempre vivi neste bairro. Antes eu cuidava de um hotel, um pouco mais para baixo, na rua Laferrière...
Essa palavra, Laferrière, acelerou o seu coração. Ao deixar Saint-Leu-la-Forêt com Annie para viver nesse bairro, ambos tinham ficado morando em um quarto na rua Laferrière. Ela se ausentava de vez em quando, deixando com ele uma cópia da chave. “Se for passear, cuidado para não se perder.” Em uma folha de papel dobrada em quatro que ele logo guardava no bolso, ela tinha escrito, com sua letra grande: “rua Laferrière, 6.”
– Conheci uma mulher que morava ali – disse Daragane, com voz apagada. – Annie Astrand.
O homem olhou-o surpreso.
– Então você devia ser realmente bem jovem. Isso já tem uns vinte anos...
– Eu diria quinze.
– Eu conheci principalmente o irmão dela, Pierre. Era ele que morava na rua Laferrière. Cuidava do estacionamento ao lado. Mas faz muito tempo que não tenho nenhuma notícia dele.
– O senhor tem alguma lembrança dela?
– Um pouco... Ela deixou o bairro muito jovem. Pelo que Pierre me contou, era protegida de uma mulher que tinha uma boate na rua de Ponthieu.
Daragane se perguntou se o homem não estaria confundindo Annie com outra mulher. No entanto, uma amiga dela, Colette Laurent, costumava aparecer bastante em Saint-Leu-la-Forêt, e um dia eles a levaram de volta de carro a Paris, deixando-a em uma rua próxima do passeio dos Champs-Elysées, onde se realizava a feira de selos. Seria essa a rua de Ponthieu? As duas tinham entrado em um prédio, enquanto ele aguardava no banco de trás do automóvel que Annie voltasse.
– Sabe que destino ela teve?
O homem olhou-o com certa desconfiança.
– Não. Por quê? Ela era mesmo sua amiga?
– Eu a conheci na minha infância.
– Bem, isso muda tudo... Mas agora já não pode acontecer nada!
Sorriu novamente e se inclinou na direção de Daragane.
– Naquela época, Pierre me contou que ela passara por alguns problemas e tinha sido presa.
Era a mesma frase usada por Perrin de Lara um mês antes, na noite em que o encontrara, sozinho, sentado no terraço de um café. “Tinha sido presa.” O tom de cada um desses homens, porém, era diferente: uma distância contendo certo desprezo no caso de Perrin de Lara, como se Daragane o tivesse forçado a falar de uma pessoa que não pertencia ao seu mundo, e uma espécie de familiaridade no caso do outro, já que este conhecia “seu irmão Pierre” e “ser presa” lhe parecia algo banal. Seria por causa de alguns de seus fregueses que apareciam, como contara a Daragane, “a partir das onze horas da noite”?
Ele raciocinava que Annie certamente lhe explicaria algumas coisas – isso se ainda estivesse viva. Depois, já com seu livro publicado e tendo tido a oportunidade de revê-la, não fez nenhuma pergunta sobre o assunto. E ela nem responderia. Também não comentou nada sobre o quarto da rua Laferrière nem sobre o papel dobrado em quatro em que ela escrevera seu endereço. Tinha perdido essa folha. E mesmo que a tivesse guardado, durante aqueles quinze anos, e a mostrasse para ela, Annie lhe diria: “Mas essa letra não é minha, meu pequeno Jean.”
O sujeito do Aero ignorava o motivo pelo qual ela tinha sido presa. “Seu irmão Pierre” não lhe dera nenhum detalhe a esse respeito. Mas Daragane se lembrava de que, na véspera de sua partida de Saint-Leu-la-Forêt, ela parecia nervosa. Tinha até se esquecido de pegá-lo às quatro e meia da tarde à saída da escola, e ele voltara para casa sozinho. Não dera importância a isso, na verdade. Era fácil, bastava seguir pela mesma rua, sempre em frente. Annie estava na sala, ao telefone. Fez-lhe um aceno com a mão e continuou a falar no aparelho. De noite, ela o levou ao seu quarto, e ele ficou ali vendo-a encher uma mala com roupas. Teve medo de que o deixasse em casa sozinho. Mas ela disse que os dois partiriam para Paris no dia seguinte.
Na mesma noite, ele ouviu vozes no quarto de Annie. Reconheceu, dentre elas, a de Roger Vincent. Um pouco mais tarde, ouviu o barulho do motor do carro americano distanciar-se até silenciar totalmente. Sentiu medo, então, da possibilidade de ouvir também o carro dela ser ligado. E adormeceu.
Num final de tarde em que saía do Aero depois de escrever duas páginas de seu livro – o trabalho das reformas no hotel se encerrava às seis –, ele se perguntou se os passeios que fizera quinze anos antes pelo bairro sem Annie o tinham alguma vez levado até ali. Esses passeios não deviam ter sido muitos, e certamente foram menos demorados do que em suas lembranças. Teria Annie realmente permitido que uma criança passeasse sozinha por aquele bairro? O endereço escrito por seu próprio punho na folha de papel dobrada em quatro – um detalhe que ele não teria como ter inventado – era uma prova disso.
Lembrava-se de ter subido por uma rua ao fim da qual se via o Moulin-Rouge. Não ousara ir além da superfície plana do bulevar, com medo de se perder. Ou seja: teriam bastado alguns poucos passos para ele estar, então, no mesmo lugar onde se encontrava agora. E esse pensamento provocou nele uma sensação estranha, como se o tempo tivesse sido eliminado. Quinze anos atrás, ele estava passeando sozinho bem perto dali sob um sol de julho, e agora era dezembro – já fazia noite toda vez que saía do Aero. Mas, para ele, de repente, as estações e os anos se confundiam. Decidiu caminhar até a rua Laferrière – o mesmo trajeto de antes –, seguindo reto, sempre em frente. As ruas eram na verdade ladeiras, e, à medida que as descia, tomava conta dele a certeza de que o tempo estava passando ao contrário. Na parte baixa da rua Fontaine a noite já clareava, o dia ia começar, e mais uma vez o sol de julho estaria de volta. Naquele papel dobrado em quatro, Annie não escrevera apenas o seu endereço, mas também as palavras: PARA VOCÊ NÃO SE PERDER NO BAIRRO, com sua letra enorme, uma letra à moda antiga, que já não se ensinava na escola de Saint-Leu-la-Forêt.
A ladeira da rua Notre-Dame-de-Lorette era tão acentuada como a anterior. Bastava se deixar levar. Um pouco mais abaixo. À esquerda. Só uma vez eles tinham voltado para casa quando já era noite. Foi na véspera da partida de trem. Ela pôs a mão sobre a cabeça dele, ou na nuca, num gesto de proteção para ter certeza de que ele realmente caminhava a seu lado. Voltavam do hotel Terrass, que ficava atrás da ponte que passa por cima do cemitério. Haviam entrado nesse hotel, e ele logo reconheceu Roger Vincent, sentado numa poltrona ao fundo do hall. Sentaram-se com ele. Annie e Roger Vincent conversavam sem ligar para a sua presença. Ele os ouvia, sem entender o que diziam. Falavam baixo. Em certo momento, Roger Vincent foi repetitivo e insistente: Annie precisava “pegar o trem” e “deixar o carro no estacionamento”. Ela discordava, mas acabou dizendo: “Sim, você tem razão, é mais prudente.” Roger Vincent voltou-se para ele, sorrindo. “Isso é para você”, e lhe entregou um cartão azul-marinho dizendo: “É o seu passaporte.” Reconheceu-se na foto, uma das que tinham sido tiradas naquela cabine onde ele piscava os olhos toda vez que o flash se acendia. Na primeira página, pôde ler o seu nome e a data de nascimento. Mas o sobrenome não era o seu, e sim o de Annie: ASTRAND. Roger Vincent lhe disse, com voz grave, que ele precisava ter o mesmo sobrenome da “pessoa que o acompanharia”, e essa explicação lhe foi suficiente.
Na volta, ele e Annie caminharam pela reta do bulevar. Depois do Moulin-Rouge, tomaram uma pequena rua à esquerda, no fim da qual se erguia a fachada de um estacionamento. Atravessaram uma garagem que cheirava a gasolina e a escuridão. Ao fundo, uma sala com paredes de vidro. Um jovem estava atrás de uma mesa, o mesmo jovem que fora algumas vezes a Saint-Leu-la-Forêt e que o levara, certa tarde, ao Circo Médrano. Falaram sobre o carro de Annie, que se podia ver dali, estacionado ao lado de uma parede.
Saíram juntos do estacionamento. Já estava escuro, e ele queria ler as palavras do luminoso: “Estacionamento da Place Blanche”, as mesmas palavras que voltaria a ler quinze anos depois, debruçado sobre a janela de seu quarto na rua Coustou, 11. Ali, depois que ele apagava a luz e se deitava para dormir, elas projetavam reflexos em forma de treliça na parede em frente à sua cama. Deitava cedo por causa da reforma, cujos trabalhos começavam às sete horas da manhã. Era difícil escrever depois de uma noite mal dormida. Quase adormecendo, ouvia a voz de Annie, cada vez mais distante, e só conseguia entender um pedaço de frase: “... PARA VOCÊ NÃO SE PERDER NO BAIRRO...” Ao acordar, nesse quarto, deu-se conta de que tinham sido necessários quinze anos para que atravessasse a rua.
Nessa tarde do ano passado, dia 4 de dezembro de 2012 – ele registrou a data em seu caderno –, diante do engarrafamento que persistia, pediu ao taxista que pegasse a rua Coustou, à direita. Enganara-se ao acreditar ter visto de longe a placa do estacionamento, já que este já não existia. Assim como a fachada de madeira escura do Néant, na mesma calçada. Em ambos os lados, as fachadas dos prédios pareciam novas, como que cobertas por um revestimento ou uma película de celofane branco que apagava as rachaduras e as manchas do passado. Por trás desse revestimento, mais profundamente, realizara-se uma espécie de taxidermia, esvaziando-se de tudo o que havia. Na rua Puget, uma parede branca substituía o madeirame e o vitral do Aero; um branco neutro, da cor do esquecimento. Ele também, durante mais de quarenta anos, encobrira de branco o período em que escrevera o seu primeiro livro e aquele verão em que passeava sozinho levando no bolso o papel dobrado em quatro: PARA VOCÊ NÃO SE PERDER NO BAIRRO.
Naquela noite, ele e Annie não haviam trocado de calçada ao saírem do estacionamento. Por isso, certamente tinham passado na frente do Néant.
Quinze anos depois, o Néant ainda existia. Nunca tivera vontade de entrar ali. Temia remexer em um buraco negro. Aliás, parecia-lhe que ninguém entrava naquele lugar. Perguntara ao dono do Aero que tipo de espetáculo se apresentava ali – “acho que foi lá que a irmã de Pierre começou, aos 16 anos. Parece que os clientes ficam todos no escuro, com acrobatas, cavaleiros e stripers com cabeça de caveira”. Será que ao passarem por ali Annie teria dado uma olhadinha, naquela noite, para a entrada do estabelecimento onde tinha “começado”?
Ela o tomara pela mão, no momento de atravessar o bulevar. Era a primeira vez que ele via Paris à noite. Não desceram a rua Fontaine, que ele tinha o hábito de tomar quando passeava sozinho durante o dia. Ela o conduzia ao longo da reta. Quinze anos depois, ele caminhava na mesma reta, no inverno, por trás das barracas armadas para o Natal, e não conseguia tirar os olhos dos luminosos de neon brancos que atraíam a atenção e lhe dirigiam sinais de código Morse cada vez mais fracos. Parecia brilharem pela última vez e ainda pertencerem ao verão em que estivera no bairro com Annie. Quanto tempo teriam ficado ali? Meses? Anos? Teria sido como esses sonhos que nos parecem tão longos, mas que, ao despertarmos bruscamente, entendemos terem durado apenas alguns segundos?
Até a rua La Ferrière, sentia a mão dela a segurá-lo pela nuca. Era ainda uma criança, que podia se soltar e ser atropelada. Ao pé da escada, ela pôs o indicador sobre os lábios para sinalizar que deviam subir em silêncio.
Acordou diversas vezes durante a noite. Dormia no mesmo quarto que Annie, ela na cama, ele em um sofá. As duas malas estavam ao pé da cama – a de Annie era de couro, a dele, de latão. Ela despertara no meio da noite e saíra do quarto. Ele a ouviu conversar com um homem que devia ser seu irmão, aquele do estacionamento, e adormeceu. Na manhã seguinte, bem cedo, ela o acordou acariciando-lhe a testa e tomaram o café da manhã na companhia do irmão. Os três dividiam a mesma mesa, e ela vasculhou a sacola de mão, pois temia ter perdido o cartão azul-marinho que Roger Vincent dera a ele na véspera no hall do hotel – o “passaporte” em nome de Jean Astrand. Mas não. Ele estava ali, na sacola. Tempos depois, no quarto da rua Coustou, ele se perguntaria em que momento tinha perdido esse passaporte falso. Provavelmente no começo da adolescência, na época em que fora expulso de seu primeiro pensionato.
O irmão de Annie os levara até a estação de Lyon. Por causa da multidão, estava difícil andar na calçada na frente da estação e, depois, no hall principal. O irmão de Annie carregava as malas. Annie explicava que era o primeiro dia das férias. Foi retirar as passagens em um guichê, enquanto ele esperava com o irmão, que pôs as malas no chão. Era preciso tomar cuidado para as pessoas não esbarrarem e para os carrinhos de mão dos carregadores não passarem por cima dos pés. Um tanto atrasados, foram correndo para a plataforma, com ela lhe segurando firme no pulso para que não se perdesse na multidão; o irmão os seguia com as malas. Embarcaram em um dos primeiros vagões, o irmão de Annie atrás. Muita gente no corredor. O irmão colocou as malas à entrada do vagão e deu um beijo em Annie. Depois, sorriu para ele e disse ao pé do ouvido: “Não esqueça... Você agora se chama Jean Astrand... Astrand.” Desceu rapidamente de volta para a plataforma e fez um aceno com a mão. O trem começou a andar. Sobrara um lugar vazio em uma das cabines. “Sente-se ali”, disse Annie, “eu fico no corredor.” Ele não queria se separar dela. Annie então o levou até o lugar segurando-o pelos ombros. Ele tinha medo de que ela o deixasse, mas o lugar ficava do lado da porta da cabine, e ele podia, assim, vigiá-la. Ela ficou de pé no corredor, sem se mover. De tempos em tempos, voltava-se para ele e sorria. Acendeu um cigarro com seu isqueiro de prata, apoiou a testa no vidro da janela e certamente contemplava a paisagem. Ele mantinha a cabeça abaixada, para não cruzar com os olhares dos demais viajantes da cabine. Temia que lhe fizessem perguntas, como os adultos costumam fazer quando deparam com uma criança sozinha. Pensou em perguntar a Annie se as suas malas ainda estariam no mesmo lugar, no começo do vagão, e se não havia o risco de alguém roubá-las. Ela abriu a porta da cabine e se inclinou para ele, dizendo em voz baixa: “Vamos para o vagão-restaurante. Lá eu posso me sentar com você.” Ele sentia que os passageiros da cabine ficavam o tempo todo de olho neles dois. As imagens se sucedem umas às outras, aos saltos, como um filme cuja película está gasta demais. Os dois avançam pelos corredores dos vagões, com ela a segurá-lo pelo pescoço. Ele sente medo quando passam de um vagão para o outro, quando o trem balança tão forte que há o risco de levar um tombo. Ela aperta seu braço, para que ele não se desequilibre. Sentam-se de frente um para o outro numa das mesas do vagão-restaurante. Por sorte, conseguem uma mesa apenas para eles; além disso, não há quase ninguém nas outras mesas, diferentemente de todos os vagões por onde tinham acabado de passar, cujos corredores e cabines estavam lotados. Ela lhe alisa o rosto com a mão e diz que permaneceriam sentados ali durante o maior tempo possível e, se ninguém aparecesse para incomodá-los, até o fim da viagem. O que o preocupa são as duas malas que eles deixaram lá atrás, no começo do outro vagão. Ele se pergunta se não acabarão por perdê-las, se é que alguém já não as tinha roubado. Deve ter lido uma história desse tipo em um dos livros da Biblioteca Verde que Roger Vincent levara para ele um dia em Saint-Leu-la-Forêt. E talvez seja justamente por causa disso que um sonho tenha passado a persegui-lo por toda a vida: malas perdidas em um trem, ou então um trem que parte com as suas malas enquanto você fica na plataforma. Se conseguisse se lembrar de todos os seus sonhos hoje em dia, contabilizaria centenas e centenas de malas perdidas.
“Não se preocupe, meu pequeno Jean”, diz Annie, sorrindo. E essas palavras o tranquilizam. Estão sentados nos mesmos lugares, depois de almoçar. Não há mais ninguém no vagão-restaurante. O trem para em uma grande estação. Ele pergunta se chegaram. Ainda não, responde Annie. Ela diz que devem ser seis horas da tarde, pois é sempre nessa hora que o trem chega a esta cidade. Alguns anos depois, ele tomará com frequência esse mesmo trem e saberá o nome da cidade aonde se chega, no inverno, ao cair da tarde. Lyon. Ela tira um baralho da sacola e tenta ensiná-lo a jogar paciência, mas ele não consegue entender nada do jogo.
Nunca fez uma viagem tão longa. Ninguém aparece para incomodá-los. “Esqueceram-se de nós”, diz Annie. E as lembranças que lhe restam de tudo isso também são cercadas pelo esquecimento, com exceção de algumas imagens mais precisas, quando o filme trava e acaba se fixando em uma delas. Annie vasculha na sacola de mão e lhe entrega o cartão azul-marinho – seu passaporte – para que ele memorize bem o seu novo sobrenome. Dali a alguns dias, irão cruzar “a fronteira” para ir a outro país, a uma cidade que se chama “Roma”. “Guarde bem esse nome: Roma. E eu juro a você que em Roma eles não conseguirão nos encontrar. Tenho amigos lá.” Ele não entende muito bem o que ela quer dizer, mas, como ela dá uma gargalhada, ele também dá. Ela joga paciência de novo, e ele a observa dispondo as cartas enfileiradas sobre a mesa. O trem para novamente em uma grande estação, e ele pergunta se já chegaram. Não. Ela lhe empresta o baralho, e ele se diverte organizando as cartas conforme suas cores. Espadas. Ouros. Paus. Copas. Ela diz que chegou a hora de irem pegar as malas. Tomam o caminho de volta pelos vagões. Ela o segura ora pelo pescoço, ora por um braço. Os corredores e as cabines estão vazios. Ela diz que todos os demais passageiros tinham descido antes deles. Um trem fantasma. Encontram as malas no mesmo lugar, no começo do vagão. Já é noite, e agora estão na plataforma deserta de uma pequena estação. Seguem por uma trilha estreita que avança paralelamente ao trilho do trem. Ela para diante de uma porta, em um muro, e tira uma chave da sacola. Descem por um caminho no escuro. Uma grande casa branca com as janelas iluminadas. Entram em um cômodo cheio de luz, com um piso branco e preto. Mas, em sua memória, essa casa se confunde com a de Saint-Leu-la-Forêt, provavelmente por causa do pouco tempo que passou ali com Annie. O quarto onde dormiu, por exemplo, parece-lhe idêntico ao de Saint-Leu-la-Forêt.
Vinte anos depois, encontrando-se na Côte d’Azur, ele acreditou reconhecer a pequena estação e a trilha estreita pela qual haviam seguido entre os trilhos do trem e os muros das casas. Èze-sur-Mer. Chegou até a fazer algumas perguntas a um homem de cabelos grisalhos que tinha um restaurante na praia. “Deve ser a antiga Villa Embiricos, no cabo Estel...” Anotou o nome com certa displicência, mas, quando o homem acrescentou: “Um tal senhor Vincent a tinha comprado durante a guerra. Depois, ela foi embargada. Agora, a transformaram em um hotel”, sentiu medo. Não, ele não iria àqueles lugares para reconhecê-los. Temia fortemente que a tristeza, até ali enterrada, se propagasse pelos anos como rastilho de pólvora.
Nunca vão à praia. À tarde, ficam no jardim, de onde se vê o mar. Há um carro na garagem da casa, um carro maior do que o de Saint-Leu-la-Forêt. À noite, ela o levou para comerem juntos em um restaurante. Foram pelo caminho de Corniche. É com esse carro, ela conta, que eles atravessarão “a fronteira” e irão até “Roma”. No último dia, ela saiu várias vezes do jardim para telefonar, e parecia inquieta. Estavam sentados face a face em uma varanda, e ele a observava jogando paciência. Ela inclinou a cabeça e franziu a testa. Parecia refletir bastante antes de colocar as cartas sobre a mesa, mas ele notou uma lágrima a escorrer por sua face, tão pequenina que era difícil ver, como naquele outro dia em Saint-Leu-la-Forêt, em que estava sentado no carro, ao lado dela. À noite, ela deu um telefonema no quarto vizinho. Ele ouviu sua voz, mas não conseguiu captar as palavras. Na manhã seguinte, foi acordado pelos raios de sol que penetravam no quarto através das cortinas e formavam manchas cor de laranja na parede. No começo, não era quase nada, um rangido de pneus sobre o cascalho, um barulho de motor que se distancia, e ele precisou ainda de um pouco de tempo para se dar conta de que ficara sozinho na casa..
Quase nada. Como uma picada de inseto que parece bem fraca no começo. Ao menos é o que você se diz, em voz baixa, para se tranquilizar. O telefone tocou por volta das quatro horas da tarde na casa de Jean Daragane, no quarto que ele chamava de “escritório”. Tinha adormecido no sofá do fundo, para se proteger do sol. E aquela campainha, cujo som ele perdera o costume de ouvir havia muito tempo, soava ininterruptamente. Por que tanta insistência? Talvez tivessem esquecido de desligar o fone do outro lado da linha. Por fim, resolveu se levantar e se dirigiu ao canto do quarto onde ficavam as janelas e o sol batia muito forte.
– Queria falar com o senhor Jean Daragane.
Uma voz suave e ameaçadora. Foi a primeira sensação que teve.
– Senhor Daragane? Está me ouvindo?
Daragane quis desligar. Mas por que fazê-lo? A campainha certamente voltaria a tocar, sem parar. A não ser que cortasse de vez o fio do telefone...
– Ele mesmo.
– É sobre a sua caderneta de endereços, senhor.
Ele a perdera no mês anterior, no trem em que viajava para a Côte d’Azur. Sim, só podia ter sido naquele trem. A caderneta provavelmente caíra do bolso do paletó quando ele tirou o bilhete dali para apresentá-lo ao fiscal.
– Encontrei uma caderneta de endereços com o seu nome.
Na capa cinza estava escrito: EM CASO DE PERDA, FAVOR DEVOLVER ESTA CADERNETA PARA. Daragane, um dia, maquinalmente, escrevera o seu nome ali, bem como o endereço e o número do telefone.
– Vou levá-la à sua casa. No dia e na hora que o senhor quiser.
Sim, com certeza uma voz suave e ameaçadora, com um tom beirando a chantagem.
– Prefiro que nos encontremos em algum outro lugar.
Esforçou-se para disfarçar o desconforto. Mas sua voz, que ele pretendia fosse indiferente, pareceu-lhe de repente apagada.
– Como o senhor quiser.
Houve um momento de silêncio.
– É uma pena. Estou bem perto da sua casa. Gostaria de lhe entregar em mãos.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/PARA_VOC_N_O_SE_PERDER_NO_BAIRRO.jpg
Daragane se perguntou se o sujeito já não estaria na frente do prédio, e se não ficaria ali à espreita, aguardando que ele saísse. Melhor se livrar o quanto antes.
– Vamos nos encontrar amanhã à tarde – disse, por fim.
– Se o senhor prefere assim... Só peço que seja perto do meu trabalho, para os lados da estação Saint-Lazare.
Quase bateu o telefone, mas conseguiu manter a frieza.
– Conhece a rua da Arcade? – perguntou o homem. – Podemos nos encontrar em um café. Na rua da Arcade, número 42.
Daragane anotou o endereço. Respirou fundo e disse:
– Combinado, senhor. No número 42 da rua da Arcade, amanhã, às cinco da tarde.
Desligou sem esperar a resposta do interlocutor. Logo em seguida, arrependeu-se de ter-se comportado de maneira tão grosseira, mas atribuiu-a ao calor que sufocava Paris havia alguns dias, um calor fora do normal para o mês de setembro. Um calor que reforçava a sua solidão. Obrigava-o a ficar trancado naquele quarto até o pôr do sol. Além disso, fazia meses que o telefone não tocava. E ele mesmo se perguntava quando fora a última vez que tinha usado também o celular, largado ali no escritório. Mal sabia utilizá-lo, cometendo sempre vários erros ao tocar nas teclas.
Se o sujeito desconhecido não tivesse telefonado, acabaria por esquecer para sempre a perda daquela caderneta. Tentou se lembrar dos nomes registrados nela. Na semana anterior, buscara resgatá-los de memória e começou a fazer uma lista numa folha em branco. A certa altura, rasgou a folha. Nenhum deles era de pessoas que realmente tiveram importância em sua vida, cujo endereço e número de telefone ele na verdade nunca precisara anotar, pois os sabia de cor. Naquela caderneta havia apenas conhecidos “do tipo profissional”, como costumamos dizer, alguns endereços supostamente úteis, no máximo trinta nomes. Entre eles, muitos já mereciam ter sido excluídos por desatualização. A única coisa que o preocupara por ter perdido a caderneta era o fato de haver registrado nela seu próprio nome e seu endereço. Logicamente podia interromper as coisas por ali e deixar aquele sujeito a esperá-lo sozinho infinitamente na rua da Arcade, 42. Mas, nesse caso, algo permaneceria no ar; uma ameaça. Em algumas tardes de profunda solidão, ele imaginava o telefone tocando e uma voz agradável a chamá-lo para um encontro. Recordava-se do título de um romance que havia lido: O tempo dos encontros. Talvez esse tempo ainda não tivesse passado para ele. Mas aquela voz, de poucos minutos antes, não lhe inspirava confiança. Sim, uma voz ao mesmo tempo suave e ameaçadora.
Pediu que o motorista do táxi o deixasse na Place de la Madeleine. Estava menos quente do que nos dias anteriores; podia-se caminhar na rua, desde que na calçada coberta pela sombra. Avançou pela rua da Arcade, deserta e silenciosa sob o sol.
Fazia uma eternidade que não passava por ali. Lembrou-se de que sua mãe atuava em um teatro daquela região e que o pai trabalhava em um escritório ao final da rua, do lado esquerdo, no número 73. Espantou-se de ainda trazer na memória o número 73. Mas, ao longo do tempo, todo esse passado se tornara translúcido... uma bruma a dissipar-se sob o sol.
O café ficava na esquina com o bulevar Haussmann. Um salão vazio, um balcão comprido encimado por prateleiras, como em um self-service ou em algum antigo Wimpy.[1] Daragane sentou-se a uma das mesas do fundo. Será que o sujeito apareceria? As duas portas, uma dando para a rua e a outra para o bulevar, estavam abertas por causa do calor. Do outro lado da rua, o edifício enorme do número 73... Pensou se alguma janela do escritório do pai daria para este lado. Qual era o andar? Mas essas recordações se lhe escapavam aos poucos, como bolhas de sabão ou lampejos de um sonho que se diluem ao despertar. Sua memória se revelaria mais viva se ele estivesse no café da rua dos Mathurins, na frente do teatro, onde costumava aguardar a mãe, ou então na área da estação Saint-Lazare, bastante frequentada por ele em outros tempos. Não. Nada disso. Já não era a mesma cidade.
– Senhor Jean Daragane?
Reconheceu a voz de imediato. Diante dele se apresentava um homem de seus 40 anos, acompanhado por uma moça mais nova.
– Gilles Ottolini.
A mesma voz, suave e ameaçadora. Apontou para a moça.
– Uma amiga minha... Chantal Grippay.
Daragane permaneceu na banqueta, imóvel. Nem sequer estendeu-lhe a mão. Os dois sentaram-se de frente para ele.
– Desculpe-nos o atraso...
Falou em tom irônico, provavelmente para tentar disfarçar algum embaraço. Sim, era a mesma voz, com um leve, quase imperceptível sotaque do Midi, o qual Daragane não havia notado na conversa da véspera ao telefone.
Pele cor de marfim, olhos negros, nariz aquilino. Um rosto muito fino, tanto de frente como de perfil.
– Aqui está o seu pertence – disse a Daragane, com o mesmo tom irônico, que parecia esconder algo incômodo. E tirou do bolso do paletó a caderneta de endereços.
Colocou-a sobre a mesa, encobrindo-a com a palma da mão, os dedos entreabertos. Dir-se-ia que assim visava impedir que Daragane a pegasse.
A moça mantinha o corpo um pouco mais para trás, como se não quisesse chamar atenção para si. Morena, cerca de 30 anos, cabelos não muito longos, usava camisa e calça pretas. Fitava Daragane com um olhar inquieto. Por causa das maçãs do rosto e dos olhos amendoados, ele especulava se ela não teria origem vietnamita ou chinesa.
– Onde o senhor a achou?
– No chão, debaixo de uma banqueta, no restaurante da estação de Lyon.
Estendeu-lhe a caderneta de endereços. Daragane guardou-a no bolso. Com efeito, lembrava-se de ter chegado à estação bem antes do horário previsto para a partida para a Côte d’Azur, e de que realmente se sentara no restaurante do primeiro andar.
– Quer beber alguma coisa? – perguntou-lhe o tal Gilles Ottolini.
Daragane sentiu vontade de partir. Mas mudou de ideia.
– Uma Schweppes.
– Procure alguém para anotar o nosso pedido. Para mim é um café – disse Ottolini, virando-se para a moça.
Esta se levantou imediatamente. Parecia acostumada a obedecer-lhe.
– O senhor deve ter ficado bem chateado por perder a caderneta...
Emitiu um sorriso estranho, que, para Daragane, parecia insolente. Mas talvez fosse fruto da timidez ou por se sentir sem jeito.
– Sabe de uma coisa? – perguntou Daragane. – Eu praticamente já não uso o telefone.
O outro o fitou com espanto. A moça voltava, retomando seu lugar à mesa.
– Não servem mais nada a esta hora. Estão fechando.
Era a primeira vez que Daragane ouvia a sua voz, uma voz rouca, sem o leve sotaque do Midi do vizinho de mesa. Era um sotaque, digamos, parisiense, se é que isso ainda significa alguma coisa.
– Você trabalha aqui perto? – perguntou Daragane.
– Em uma agência de publicidade, na rua Pasquier. A agência Sweerts.
– Você também?
Tinha se virado para a moça.
– Não – disse Ottolini, sem dar tempo de a moça responder. – No momento ela não está trabalhando.
De novo aquele sorriso crispado. E a moça também esboçou um sorriso.
Daragane queria sair logo dali. Conseguiria depois se livrar daquela dupla se não o fizesse de imediato?
– Vou ser sincero com o senhor... – e se inclinou na direção de Daragane, com a voz em tom mais agudo.
Daragane teve a mesma sensação da véspera, ao telefone. Isso mesmo. O sujeito era insistente como um inseto.
– Tomei a liberdade de folhear a sua caderneta... por mera curiosidade...
A moça virou o rosto, como se fingisse não ouvi-lo.
– Não fica chateado comigo, não é?
Daragane fitou-o diretamente nos olhos. O outro sustentou o olhar.
– Por que eu deveria ficar?
Um silêncio. O outro acabou baixando os olhos. Em seguida, com a mesma voz metálica:
– Vi na caderneta o nome de uma pessoa. E gostaria que o senhor me desse algumas informações sobre ela...
O tom agora ficara mais humilde:
– Desculpe-me a indiscrição.
– Que pessoa é essa? – perguntou Daragane, contrariado.
Sentiu de repente necessidade de se levantar e caminhar a passos rápidos em direção à porta que dava para o bulevar Haussmann, para respirar ao ar livre.
– Um tal de Guy Torstel.
Pronunciou o nome e o sobrenome destacando sílaba por sílaba, como se quisesse avivar a memória adormecida de seu interlocutor.
– Como?
– Guy Torstel.
Daragane tirou a caderneta do bolso e abriu-a na letra T. Leu o nome, bem no alto da página, mas aquele Guy Torstel não lhe evocava nada.
– Não faço ideia de quem seja.
– É mesmo?
O outro parecia decepcionado.
– Tem um número de telefone com sete algarismos – disse Daragane. – Deve ser pelo menos de uns trinta anos atrás...
Virou mais páginas. Todos os outros números de telefone eram atuais, com dez algarismos. E só havia cinco anos que usava aquela caderneta.
– Esse nome não lhe diz nada?
– Não.
Se fosse alguns anos atrás, ele demonstraria, nessa hora, aquela amabilidade que todos então lhe atribuíam, e diria: “Dê-me um tempinho para tentar esclarecer esse mistério...” Mas tais palavras, agora, não lhe ocorriam.
– É por causa de um caso policial sobre o qual reuni uma boa documentação – prosseguiu o outro. – Esse nome é citado nele. Por isso...
Subitamente, pareceu na defensiva:
– Que tipo de caso policial?
Daragane lançou a pergunta mecanicamente, como se resgatasse antigos reflexos condicionados de sua cortesia.
– Um caso bem antigo... Queria escrever um artigo sobre isso... No começo, era apenas jornalismo, sabe...
Mas a atenção de Daragane se dissipou. Precisava mesmo deixá-los o quanto antes, sob pena de ter de ficar ali ouvindo aquele homem lhe contar a sua vida inteira.
– Desculpe – disse. – Esqueci quem é esse Torstel... Na minha idade às vezes a gente tem lapsos de memória... Infelizmente preciso ir embora...
Levantou-se e apertou-lhes as mãos. Ottolini dirigiu-lhe um olhar duro, como se Daragane o tivesse injuriado e ele estivesse a ponto de replicar de maneira violenta. A moça, por sua vez, apenas baixou os olhos.
Caminhou rumo à porta de vidro aberta que dava para o bulevar Haussmann, esperando que o outro não lhe impedisse a passagem. Na rua, respirou fundo. Que ideia bizarra essa de marcar um encontro com um desconhecido, justamente ele que não se encontrava com ninguém havia três meses e que, aliás, não se sentia nem um pouco mal por causa disso... Ao contrário: nunca se sentira tão leve como nesse período de solidão, até com curiosos momentos de exaltação, de manhã ou de tarde, como se tudo ainda fosse possível e, lembrando o título de um velho filme, como se a aventura o aguardasse ali na esquina... Nunca antes, nem mesmo nos verões de sua juventude, a vida lhe parecera tão desprovida de peso como desde o início desse verão. Mas no verão tudo fica em suspenso – é uma estação “metafísica”, dizia antigamente o seu professor de filosofia, Maurice Caveing. Que estranho! Lembrou-se do nome “Caveing”, mas já não sabia quem era Torstel.
Ainda fazia sol, e uma brisa leve atenuava o calor. O bulevar Haussmann, àquela hora, estava deserto.
Passara por ali com alguma frequência nos últimos cinquenta anos, como também durante a infância, quando a mãe o levava à loja de departamentos Printemps, um pouco mais adiante no próprio bulevar. Nessa tarde, porém, a cidade lhe parecia estranha. Livrara-se de todas as amarras que ainda pudessem atrelá-lo a ela, ou, talvez, ela mesma é que o havia rejeitado.
Sentou-se num banco e tirou do bolso a caderneta de endereços. Preparou-se para rasgá-la e jogar o papel picado no saco de lixo de plástico verde ao lado do banco. Porém hesitou. Não. Faria isso depois, em casa, com calma. Folheou a caderneta distraidamente. De todos aqueles números, nenhum lhe despertava a mínima vontade de teclar. Além disso, nos dois ou três números ausentes, que tinham tido alguma importância e que ele sabia de cor, ninguém atenderia mais.
1. Rede de restaurantes fast-food surgida em Chicago, EUA, na década de 1930. [N. do T.]
Por volta das nove da manhã, o telefone tocou. Tinha acabado de acordar.
– Senhor Daragane? Gilles Ottolini.
A voz lhe pareceu menos agressiva do que na véspera.
– Desculpe-me por ontem... Tenho a impressão de tê-lo importunado...
Era um tom cortês, até de deferência. Sem aquela insistência de inseto que tanto incomodara Daragane.
– Ontem... queria ter corrido atrás do senhor na rua... O senhor saiu tão de repente...
Um silêncio. Mas, desta vez, não ameaçador.
– Li alguns livros seus, sabe? Em especial No escuro do verão...
No escuro do verão. Levou alguns segundos para se dar conta de que se tratava, sim, de um romance escrito por ele havia muito tempo. Seu primeiro livro. Tão distante...
– Gostei muito de No escuro do verão. Esse nome de que falamos, que consta da caderneta... Torstel... então, o senhor o utilizou em No escuro do verão.
Daragane não se lembrava disso, nem de nada do livro.
– Tem certeza?
– O senhor o menciona de passagem.
– Eu precisaria reler No escuro do verão. Mas já não tenho nenhum exemplar.
– Posso emprestar o meu.
O tom lhe pareceu mais seco, à beira da insolência. Mas talvez estivesse enganado. Depois de uma solidão tão prolongada – não falava com ninguém desde o começo do verão –, ficamos desconfiados e receosos diante de nossos semelhantes, arriscando-nos a cometer erros de avaliação em relação a eles. Não, eles não são tão maus assim.
– Não tivemos tempo, ontem, de entrar em muitos detalhes... Mas o que o senhor tanto quer desse tal Torstel?
Daragane recuperara sua voz normal, mais animada. Bastara falar com alguém. Um pouco como os movimentos da ginástica, que nos trazem a flexibilidade de volta ao corpo.
– Aparentemente, está envolvido em um antigo caso policial... Da próxima vez que nos encontrarmos, eu lhe mostrarei todos os documentos... Como lhe disse, estou escrevendo um texto sobre isso.
O sujeito, então, pretendia vê-lo novamente... Ora, por que não? Vinha-se mantendo reticente, já fazia algum tempo, diante da ideia de que novas pessoas pudessem entrar em sua vida. Em certos momentos, porém, ainda se sentia disponível. Dependia do dia. Por fim, disse:
– Então, como posso ajudá-lo?
– Vou viajar dois dias a trabalho. Telefono assim que voltar, e então marcamos um encontro.
– Como achar melhor.
Sua disposição mudara em relação ao dia anterior. Certamente fora injusto com o tal Gilles Ottolini; encontrara-o num dia ruim. Culpa do toque do telefone, que o arrancara brutalmente de um cochilo bem no meio da tarde. Um toque tão raro nos últimos meses que o amedrontara e lhe parecera tão ameaçador como se alguém estivesse batendo à sua porta em plena madrugada.
Não tinha vontade de reler No escuro do verão, até porque essa leitura poderia lhe dar a sensação de que o romance fora escrito por outra pessoa. Pediria a Gilles Ottolini apenas para fazer cópias das páginas que mencionassem Torstel. Isso já não bastaria para evocar nele alguma coisa?
Abriu a caderneta na letra T, sublinhou “Guy Torstel 423 40 55” com caneta esferográfica azul e acrescentou ao lado um ponto de interrogação. Tinha preenchido aquelas páginas copiando de uma caderneta mais antiga, excluindo os nomes de pessoas já falecidas e os números inválidos. Certamente Guy Torstel passara para aquele alto de página em um momento de desatenção. Seria necessário encontrar a caderneta antiga, de uns trinta anos atrás, para que sua memória sobre ele, quem sabe, se reavivasse em meio a outros nomes do passado.
Mas agora estava sem ânimo para remexer nos armários e nas gavetas. Menos ainda para reler No escuro do verão. Aliás, já fazia um bom tempo que suas leituras se limitavam a um único autor: Buffon. Reconfortava-se com sua obra, graças à limpidez do estilo, lamentando não ter sofrido nenhuma influência dela na sua própria obra: escrever romances cujos personagens fossem animais, até árvores ou flores... Se lhe perguntassem, agora, qual escritor ele sonharia em ser, responderia sem hesitação: um Buffon das árvores e das flores.
O telefone tocou à tarde, na mesma hora do primeiro dia. Pensou que fosse Gilles Ottoni novamente. Era, porém, uma voz feminina:
– Aqui é Chantal Grippay. O senhor se lembra de mim? Estivemos juntos ontem, com Gilles... Não quero incomodá-lo...
Uma voz fraca, distante. A linha estava com muito chiado.
Um silêncio.
– Senhor Daragane, preciso muito falar com o senhor. É sobre o Gilles...
A voz, agora, estava mais próxima. Aparentemente, a tal Chantal Grippay superara a timidez.
– Ontem à tarde, quando o senhor partiu, ele ficou com medo de que tivesse ficado aborrecido. Está agora em Lyon por dois dias, a trabalho. Podemos nos encontrar hoje no final da tarde?
O tom da voz de Chantal Grippay ganhara mais segurança, como um mergulhador que se joga na água depois de hesitar por alguns instantes.
– Estaria bem para o senhor lá pelas cinco horas? Moro na rua de Charonne, número 118.
Daragane anotou o endereço na mesma página em que estava o nome de Guy Torstel.
– Quarto andar, final do corredor. Meu nome está na caixa de correio do pátio. Aparece como Joséphine Grippay, mas troquei de nome...
– Rua de Charonne, 118. Seis da tarde... quarto andar – repetiu Daragane.
– Isso mesmo... Vamos conversar sobre o Gilles...
Depois que ela desligou, a frase que acabara de pronunciar, “vamos conversar sobre o Gilles”, ressoou na cabeça de Daragane como a chave de ouro de um soneto alexandrino. Precisava lhe perguntar por que ela mudara de nome.
Um prédio de tijolos mais alto e levemente recuado em relação aos outros. Daragane preferiu subir de escada os quatro andares, em vez de pegar o elevador. No final do corredor, na porta, um cartão de visita com o nome de “Joséphine Grippay”. O nome “Joséphine” estava rasurado, trocado com uma caneta de cor violeta por “Chantal”. Preparava-se para tocar a campainha, quando a porta se abriu. Estava toda de preto, como no dia anterior, no café.
– A campainha está quebrada. Ouvi os seus passos na escada.
Sorria parada no vão da porta. Parecia hesitar quanto a deixá-lo entrar.
– Se preferir, podemos beber alguma coisa em outro lugar – disse Daragane.
– Não, de jeito nenhum. Entre, por favor.
Um quarto de tamanho médio, com uma porta aberta à direita dando aparentemente para um banheiro. Do teto pendia uma lâmpada nua.
– Não é muito espaçoso, mas fica melhor para conversarmos.
Dirigiu-se a uma pequena escrivaninha de madeira clara encaixada entre as duas janelas, pegou a cadeira e colocou-a perto da cama.
– Sente-se, por favor.
Ela, de seu lado, sentou-se na beirada da cama, ou melhor, do colchão, pois não havia nenhum estrado.
– Este é o meu quarto... O Gilles achou uma coisa um pouco maior para ele no 17º,[2] na praça de Graisivaudan.
Tinha de erguer a cabeça para falar com ele. Daragane preferiria sentar-se no chão ou ao lado dela no colchão.
– O Gilles conta muito com a sua ajuda para fazer esse texto... Na verdade, já escreveu um livro, mas não teve coragem de lhe dizer...
Estendendo-se sobre o colchão, esticou o braço e pegou um volume de capa verde que estava sobre o criado-mudo.
– Aqui está... Não conte ao Gilles que eu lhe emprestei.
Um livro fino intitulado O passeante hípico, em cuja segunda capa se registrava ter sido publicado havia três anos pela editora Sablier. Daragane abriu o exemplar e deu uma olhadela no sumário. A obra se dividia em dois grandes capítulos: “Hipódromos” e “Escola de jóqueis”.
Ela o fitava com aqueles olhos levemente amendoados.
– É melhor ele não saber que nós dois nos encontramos.
Levantou-se, fechou uma das janelas, que estava entreaberta, e sentou-se novamente no colchão. Daragane teve a sensação de que ela fechara a janela para evitar que alguém os ouvisse.
– Antes de trabalhar na Sweerts, Gilles escrevia matérias sobre corridas e sobre cavalos em revistas e jornais especializados.
Hesitava, como alguém à beira de fazer uma confidência.
– Fez aula de hipismo em Maisons-Laffitte quando era jovem. Mas era difícil demais. Teve de largar. O senhor vai ver, se ler o livro...
Daragane a ouvia atentamente. Era estranho penetrar assim tão rápido na vida das pessoas... Achava que na sua idade isso nunca mais aconteceria, seja por certo enfastiamento da sua parte, seja por imaginar que com o tempo os outros vão sempre se afastando, aos poucos, de você.
– Ele me levou bastante a hipódromos. Ensinou-me a apostar. É um vício, sabe?
De repente, parecia triste. Daragane considerou que talvez buscasse nele algum apoio, moral ou material. E a gravidade dessas últimas palavras que lhe vieram à mente deu-lhe vontade de rir.
– Vocês continuam a apostar nos hipódromos?
– Cada vez menos, desde que ele começou a trabalhar na Sweerts.
Baixara o volume da voz. Talvez temesse que Gilles Ottolini entrasse de repente e os surpreendesse naquele quarto.
– Vou lhe mostrar as anotações que já fez para o texto... Talvez o senhor tenha conhecido todas essas pessoas...
– Que pessoas?
– Essa de quem ele lhe falou, por exemplo... Guy Torstel.
Inclinou-se novamente para pegar no criado-mudo uma pasta de cartolina azul-celeste. Abriu-a. Havia, ali, várias páginas datilografadas e um livro, que ela lhe deu: No escuro do verão.
– Prefiro que fique com ele – disse Daragane, secamente.
– Ele marcou aqui a página em que o senhor menciona esse Guy Torstel...
– Seria melhor fazer uma cópia... Isso me pouparia o trabalho de reler o livro.
Pareceu espantada com o fato de ele não querer reler seu próprio livro.
– Daqui a pouco vamos juntos fazer cópias também das anotações, para que o senhor possa levá-las.
Apontou para as páginas datilografadas.
– Mas isso tudo deve ficar entre nós...
Daragane se sentia tenso na cadeira. Tentando relaxar um pouco, passou a folhear o livro de Gilles Ottolini. No capítulo “Hipódromos”, deu de cara com uma palavra em letras maiúsculas: LE TREMBLAY. E essa palavra detonou algo em sua mente, sem que soubesse exatamente o quê, como se um detalhe esquecido lhe voltasse aos poucos à memória.
– É um livro interessante. O senhor verá...
Ergueu a cabeça na direção dele, sorrindo.
– Faz tempo que vocês moram aqui?
– Dois anos.
As paredes bege que não tinham sido pintadas certamente fazia anos, a pequena escrivaninha, as duas janelas que davam para o pátio... Ele tinha vivido em quartos iguaizinhos a esse quando tinha a idade de Chantal Grippay, e mesmo quando ainda mais jovem do que ela. Mas, na época, não era nesses bairros do lado leste. Era mais ao sul, na periferia do 14º ou do 15º distritos. E na parte noroeste da cidade, na mesma praça de Graisivaudan que ela mencionara, por uma misteriosa coincidência, minutos antes. E também ao pé da colina de Montmartre, entre as praças Pigalle e Blanche.
– Sei que Gilles lhe telefonou hoje de manhã antes de viajar para Lyon. Não disse nada de especial?
– Apenas que iríamos nos encontrar de novo.
– Estava com medo de o senhor se aborrecer...
Talvez Gilles Ottolini soubesse desse encontro de hoje. Poderia achar que ela seria mais convincente e conseguiria estimulá-lo a contar alguma coisa – como esses investigadores de polícia que se revezam ao longo de um interrogatório. Não, ele não tinha viajado para Lyon coisa nenhuma; estava ali mesmo, ouvindo a conversa atrás da porta. Essa ideia o fez sorrir.
– Desculpe a indiscrição, mas por que você mudou de nome?
– Acho Chantal mais simples do que Joséphine.
Disse-o seriamente, como se a mudança de nome tivesse sido fruto de uma longa reflexão.
– Quase ninguém mais se chama Chantal hoje em dia. De onde você tirou esse nome?
– Tirei de um calendário.
Ela pôs a pasta azul-celeste sobre a cama, junto ao corpo. Uma fotografia grande saiu um pouco para fora, entre o exemplar de No escuro do verão e as páginas datilografadas.
– Que foto é essa?
– É de uma criança... O senhor vai ver. Faz parte do dossiê.
Não lhe agradava a palavra “dossiê”.
– O Gilles obteve algumas informações sobre esse caso com a própria polícia... Conhecemos um tira que apostava nos cavalos... Ele fez uma busca nos arquivos... E achou também essa foto...
A voz ficara rouca de novo, como no outro dia no café – algo surpreendente numa mulher daquela idade.
– Posso? – perguntou Daragane. – Fico alto demais aqui, nesta cadeira.
Sentou-se então no chão, ao pé da cama. Agora estavam ambos à mesma altura.
– Mas assim o senhor fica mal acomodado... Sente-se aqui na cama mesmo...
Ela se inclinou na direção dele, e seu rosto ficou tão próximo que Daragane pôde observar uma pequenina cicatriz na face esquerda da moça. Le Tremblay. Chantal. Praça de Graisivaudan. Essas palavras ressoavam, circulavam em sua mente. Uma picada de inseto bem leve no início, mas depois provocando uma dor cada vez mais intensa e logo a sensação de uma ferida. Presente e passado agora se confundem, o que parece natural, já que estavam separados apenas por uma barreira de papel celofane – e basta a picada de um inseto para romper o celofane. Não saberia dizer em que ano foi, mas ele era bem jovem, em um quarto tão pequeno quanto esse, na companhia de uma moça chamada Chantal – um nome bastante comum naquela época. Como faziam habitualmente aos sábados, o marido daquela Chantal, um tal de Paul, e outros amigos deles tinham saído para jogar em alguns cassinos nas cercanias de Paris: Enghien, Forges-les-Eaux... e voltariam apenas no dia seguinte, com algum dinheiro. Ele, Daragane, e essa Chantal passavam a noite juntos no quarto da praça de Graisivaudan até que eles voltassem. Paul, o marido, também frequentava os hipódromos. Um jogador de verdade. Ousado. Para ele, as apostas eram todas no sistema martingale.
A outra Chantal – esta, a atual – levantou-se e abriu uma janela. O quarto estava ficando quente.
– Estou esperando um telefonema do Gilles. Não lhe direi que o senhor está aqui. Promete que irá ajudá-lo?
Teve mais uma vez a sensação de que ela e Gilles Ottolini tinham combinado não largá-lo em nenhum momento, marcando encontros cada um em uma hora diferente. Mas qual seria o objetivo? Ajudá-lo em que, exatamente? A escrever sobre o antigo caso policial a respeito do qual ele, Daragane, ainda não sabia nada? Talvez o “dossiê” – como dizia ela com insistência –, esse dossiê, ali, ao lado dela sobre a cama, na pasta de cartolina aberta, pudesse lhe trazer algum esclarecimento.
– Promete ajudá-lo?
Mais incisiva, agitava o dedo indicador. Ele ficou em dúvida quanto a se esse gesto era ou não uma ameaça.
– Desde que ele deixe claro o que quer de mim.
Do banheiro veio o som de uma campainha estridente de telefone, seguida de algumas notas musicais.
– Meu celular... Deve ser o Gilles...
Entrou no banheiro e fechou a porta, como se não quisesse que Daragane a ouvisse. Ele se sentou na beira da cama. Só agora notava um cabideiro preso à parede perto da entrada, no qual estava pendurado um vestido preto que lhe pareceu ser de seda. Em cada lado, abaixo dos ombros, estava bordada, com lamê dourado, uma andorinha. Zíper na altura dos quadris e nos punhos. Um vestido antigo, certamente comprado no mercado das pulgas. Imaginou-a com aquele vestido de seda preta, com as duas andorinhas amarelas.
Atrás da porta do banheiro, momentos prolongados de silêncio; a toda hora Daragane sentia que a conversa terminara. Mas então a ouvia dizer, com aquela voz rouca: “Não, eu prometo...”, e essa frase se repetia, duas, três vezes. Ouviu-a dizer também: “Não, isso não é verdade”; e: “É bem mais simples do que você imagina...” Aparentemente, Ottollini a criticava por algo, ou lhe expunha alguma preocupação. E ela buscava tranquilizá-lo.
À medida que a conversa se prolongava, Daragane teve vontade de sair dali, silenciosamente. Quando jovem, aproveitava toda e qualquer oportunidade para deixar as pessoas, sem que pudesse explicar a si mesmo o motivo: um anseio de ruptura e de respirar ao ar livre? Agora, porém, sentia necessidade de se deixar levar, sem impor resistências inúteis. Pegou na pasta de cartolina azul-celeste a fotografia que lhe chamara a atenção momentos antes. À primeira vista, tratava-se da ampliação de uma foto de identidade. Uma criança de cerca de 7 anos, cabelos curtos, como era costume usar no começo dos anos 1950. Mas podia ser também uma criança dos dias de hoje, vivemos uma época em que todas as modas, de anteontem, de ontem e de hoje, se misturam, e talvez agora esse tipo de corte de antigamente para os cabelos das crianças tivesse sido retomado. Precisava tirar isso a limpo; sentiu pressa de sair à rua e observar os cortes de cabelos das crianças.
Ela saiu do banheiro, com o celular na mão.
– Desculpe... Demorou, mas eu consegui fazer o moral dele subir um pouco. Às vezes o Gilles só consegue ver coisas ruins pela frente.
Sentou-se ao lado dele, na beirada da cama.
– É por isso que sua ajuda é necessária. Ele gostaria muito que o senhor lembrasse quem é esse Torstel... O senhor não faz nenhuma ideia?
De novo o interrogatório. Até que horas iria aquilo? Não conseguiria mais sair daquele quarto. Talvez ela tivesse até mesmo trancado a porta. Apesar disso, estava calmo, sentindo apenas um pouco de cansaço, como costumava lhe acontecer nos finais de tarde. Bem que gostaria de pedir para deitar um pouco naquela cama.
Um nome ressoava dentro da cabeça, sem que conseguisse se livrar dele. Le Tremblay. Um hipódromo do subúrbio, no sudeste, aonde Chantal e Paul o tinham levado em um domingo de outono. Paul trocara algumas palavras na tribuna com um homem mais velho do que eles e lhes explicara depois tratar-se de uma pessoa que ele às vezes encontrava no cassino de Forges-les-Eaux e que também frequentava os hipódromos. Esse homem se oferecera para lhes dar uma carona, no seu carro, na volta a Paris. Era realmente outono, não um veranico como este de agora, em que faz tanto calor no quarto e ele nem sabe muito bem quando poderá sair... Ela fechara a pasta azul-celeste, guardando-a sobre os joelhos.
– Precisamos fazer as fotocópias para o senhor... É perto daqui...
Ela consultou o relógio.
– O lugar fecha às sete horas. Temos tempo.
Mais tarde ele tentaria lembrar em que ano exatamente tinha sido aquele outono. Do parque do Tremblay eles seguiram pelo Marne e cruzaram o bosque de Vincennes ao cair da tarde. Daragane estava ao lado do homem que conduzia o carro, os outros dois no banco de trás. O homem parecera surpreso quando Paul fez as apresentações:
– Jean Daragane.
Falavam sobre algo qualquer, e também sobre a última prova no Tremblay. O homem perguntou:
– Seu nome é Daragane? Acho que conheci seus pais muito tempo atrás...
A palavra “pais” o surpreendeu. Tinha a sensação de nunca ter tido pais.
– Faz uns quinze anos... Numa casa perto de Paris... Lembro-me de uma criança...
O homem se voltou para ele.
– Suponho que essa criança seja você...
Daragane temia que lhe fizesse perguntas sobre um período de sua vida no qual ele já não pensava. Além disso, não teria muita coisa para dizer. Mas o outro ficou em silêncio. A certa altura, o homem comentou:
– Já não lembro onde ficava esse lugar, nas cercanias de Paris...
– Eu também não – respondeu Daragane, lamentando em seguida tê-lo feito de modo tão seco.
Sim, acabaria lembrando a data exata daquele outono. Por enquanto, porém, continuava sentado ali, na beira da cama, ao lado daquela Chantal, e parecia despertar de um cochilo repentino. Procurava retomar o fio da conversa.
– Você costuma usar muito esse vestido?
Apontou para o vestido de seda preto com as duas andorinhas amarelas.
– Quando aluguei o quarto, ele já estava aqui. Certamente era da outra locatária.
– Ou talvez tenha sido seu mesmo, em uma vida anterior.
Ela franziu a testa, fitou-o com um olhar desconfiado e disse:
– Acho que já podemos fazer as fotocópias.
Levantou-se, e Daragane teve a impressão de que ela queria deixar o quarto o mais rapidamente possível. O que a amedrontava? Talvez não devesse ter perguntado nada sobre o vestido preto.
2. Referência a um dos arrondissements ou distritos de Paris. [N. do T.]
Já em casa, perguntou a si mesmo se não tinha, na verdade, sonhado tudo aquilo. Certamente era culpa do calor daquele veranico.
Ela o levara a uma papelaria no bulevar Voltaire, no fundo da qual havia uma fotocopiadora. As folhas datilografadas eram finas, como aquele papel que se usava antigamente para mandar cartas em um envelope escrito “via aérea”.
Depois de sair do local, caminharam um pouco pelo bulevar. Dir-se-ia que ela não queria mais deixá-lo. Talvez temesse que, em se separando, ele não desse depois mais nenhum sinal de vida e assim Gilles Ottolini jamais soubesse quem era o misterioso Torstel. Mas também ele preferia ficar com ela, pois a perspectiva de voltar para casa sozinho lhe causava apreensão.
– Se o senhor ler o dossiê ainda esta noite, talvez consiga refrescar a memória... – apontando para a pasta de cartolina cor de laranja que ele agora trazia na mão com as fotocópias. Ela fizera questão de que até a foto do menino tivesse sido copiada.
– Pode me telefonar à noite, na hora que quiser. O Gilles só volta amanhã, na hora do almoço... Eu gostaria muito de saber o que o senhor acha de tudo isso...
Tirou da carteira um cartão de visita com o nome Chantal Grippay, o endereço – rua de Charone, 118 – e o número do celular.
– Preciso voltar para casa. O Gilles vai me ligar, e eu me esqueci de sair com o celular.
Tinham dado meia-volta e caminhavam na direção da rua de Charonne. Os dois calados. Não precisavam dizer nada. Ela parecia achar natural que caminhassem assim, lado a lado, e Daragane pensou que se pegasse no braço dela naquele momento ela se deixaria levar, como se já se conhecessem havia muito tempo. Despediram-se à entrada da escadaria da estação de metrô Charonne.
Agora, no seu escritório, ele folheia as páginas do “dossiê”, mas sem nenhuma vontade de lê-las de imediato.
Primeiro porque tinham sido datilografadas com um entrelinhamento mínimo, e aquela massa de letras amontoadas umas sobre as outras o desencorajava. Além disso, ele já identificara o tal Torstel. Na volta do Tremblay, naquele domingo de outono, o homem queria deixar cada um em sua respectiva casa. Chantal e Paul, porém, desceram em Montparnasse, onde havia uma linha de metrô direto para a casa deles. Ele ficou no carro porque o homem lhe disse que não morava muito longe da praça de Graisivaudan, onde ele, Daragane, ocupava aquele quarto.
Permaneceram em silêncio durante boa parte do trajeto. Por fim, o homem disse:
– Tive de ir umas duas ou três vezes a essa casa nas cercanias de Paris... Foi sua mãe quem me levou...
Daragane permaneceu em silêncio. Com efeito, evitava pensar nessa época tão distante de sua vida. E nem sequer sabia se a mãe ainda estava viva.
O outro parou o carro na altura da praça de Graisivaudan.
– Dê lembranças à sua mãe... Há muito tempo não nos vemos. Fazíamos parte de uma espécie de clube, com outros amigos. O Clube das Crisálidas. Fique com isso, caso ela queira me procurar...
Estendeu-lhe um cartão de visita em que estava escrito “Guy Torstel” e – pelo que ele se recorda – um endereço profissional – uma livraria na área do Palais-Royal. Bem como um número de telefone. Logo depois, Daragane perdeu esse cartão. Mas tinha-o registrado – por quê? – na caderneta de endereços que usava naquela época.
Sentou-se à escrivaninha. Sob o “dossiê” estava a fotocópia da página 47 do seu romance No escuro do verão, em que se mencionava o tal Guy Torstel. O nome estava sublinhado, provavelmente por Gilles Ottolini. Ele leu:
“Na galeria de Beaujolais, havia uma livraria com uma vitrine cheia de livros de arte. Entrou ali. Uma mulher morena estava sentada a uma escrivaninha.
– Queria falar com o senhor Morihien.
– O senhor Morihien não está – disse ela. – Gostaria de falar com o senhor Torstel?”
E só. Nada demais. O nome só aparecia nessa página do romance. E ele não tinha ânimo algum, nessa noite, para procurá-lo nas páginas datilografadas com aquele entrelinhamento mínimo do “dossiê”. Torstel. Uma agulha no palheiro.
Recordava-se de que no cartão de visita perdido havia o endereço de uma livraria, no Palais-Royal. Talvez o número de telefone fosse dessa livraria. Mas, passados quarenta e cinco anos, esses pequenos detalhes não bastariam para lhe fornecer a pista de um homem que agora não passava de um nome.
Deitou-se no sofá e fechou os olhos. Decidiu se esforçar para reconstituir, nem que fosse por um instante, a passagem do tempo. Era outono quando começara a escrever No escuro do verão, o mesmo outono em que, num domingo, fora ao Tremblay. Lembrou-se de ter escrito a primeira página do romance na noite daquele domingo, no quarto da praça de Graisivaudan. Algumas horas antes, quando o carro de Torstel avançava pela beira do Marne para depois cruzar o bosque de Vincennes, ele realmente sentira a presença do outono: a bruma, o cheiro de terra molhada, as aleias forradas de folhas mortas. Desde então, o nome Tremblay sempre estivera associado, para ele, a esse outono.
Assim como o nome Torstel, usado no livro tão somente por causa da sua sonoridade. Era isso o que Torstel evocava nele. Não precisava buscar mais longe. Era tudo o que ele podia dizer. Gilles Ottolini provavelmente ficaria decepcionado. Problema dele. Afinal, não era obrigado a lhe dar explicação alguma. Isso tudo não tinha nada que ver com ele.
Quase onze da noite. Sozinho em casa, nessa hora, frequentemente sentia aquilo que se costuma chamar de “baixo-astral”. Então, ia a um café das proximidades que ficava aberto até tarde. Depois de algum tempo, a iluminação forte, o burburinho, a movimentação das pessoas e as conversas de que tinha a fantasia de participar levavam-no a vencer o baixo-astral. De uns tempos para cá, porém, podia dispensar esse expediente. Bastava olhar pela janela do escritório a árvore plantada no pátio do prédio vizinho, que se mantinha coberta de folhas por muito mais tempo do que as outras, até novembro. Tinham-lhe dito que era uma espirradeira, ou um álamo, já não sabia. Lamentava os anos que perdera sem dar muita atenção às árvores ou às flores – justamente ele, que agora só lia a História natural de Buffon. Súbito se lembrou de um trecho das memórias de uma filósofa francesa que ficara chocada com uma frase dita por uma mulher durante a guerra: “O que você quer? A guerra não muda em nada a minha relação com a folhinha de uma erva.” A filósofa certamente considerava essa mulher uma pessoa frívola e indiferente a tudo, mas para ele, Daragane, a frase tinha outro sentido: em períodos cataclísmicos ou de miséria moral, o único recurso possível para não despencar ladeira abaixo é buscar algum ponto fixo, a fim de manter o equilíbrio. O olhar se fixa, então, na tal folhinha de uma erva qualquer – pode ser uma árvore, as pétalas de uma flor –, como se você se agarrasse a uma boia de salvação. Aquela espirradeira – ou álamo –, atrás do vidro da janela, o tranquiliza. Apesar de ser quase onze horas da noite, a sua presença silenciosa o reconforta. Melhor, então, acabar com isso de uma vez e ler as páginas datilografadas. Precisava admitir: no início, pela voz e pela aparência, Gilles Ottolini lhe parecera um chantagista. Tentaria superar esse prejulgamento. Mas será que conseguiria mesmo fazer isso?
Tirou o clipe que juntava as páginas. O papel das fotocópias era diferente do original. Lembrou-se de como as folhas lhe pareciam finas e transparentes à medida que Chantal Grippay fazia as cópias. Evocavam, para ele, o papel que se usava antigamente para as cartas “via aérea”. Mas também não era exatamente isso. Elas tinham, mais precisamente, a transparência do papel de seda usado nos interrogatórios de polícia. Aliás, a própria Chantal Grippay havia dito: “O Gilles conseguiu obter informações da polícia...”
Lançou um último olhar na direção da copa da árvore à sua frente e começou a leitura.
As letras eram minúsculas, como se alguém as tivesse datilografado com uma dessas máquinas de escrever portáteis que já não existem hoje em dia. Daragane tinha a sensação de mergulhar em um caldo compacto e indigesto. Às vezes pulava uma linha e precisava voltar para trás, com a ajuda do dedo indicador. Mais do que um relatório homogêneo, tratava-se de notas muito curtas, colocadas numa sequência desordenada, sobre o assassinato de uma certa Colette Laurent.
As notas recompunham a sua trajetória. Chegada a Paris, vinda do interior, bem jovem. Emprego em uma casa noturna da rua de Ponthieu. Quarto em um hotel no bairro do Odéon. Convive com os alunos da Escola de Belas-Artes. Relação de pessoas interrogadas e que ela poderia ter conhecido na boate, relação de alunos da Belas-Artes. Corpo encontrado em um quarto de hotel do 15º distrito. Depoimento do dono do hotel.
Então era esse o caso policial pelo qual Ottolini se interessava tanto? Interrompeu a leitura. Colette Laurent. Esse nome, aparentemente anódino, causava alguma reverberação dentro dele, ainda que leve demais para que pudesse defini-la. Parecia-lhe ter lido o ano: 1951; mas não tinha ânimo de checar isso naquele emaranhado de palavras, tão comprimidas umas contra as outras que davam uma sensação de sufocamento.
1951. Passou-se mais de meio século, e as testemunhas desse caso policial já estão mortas, assim como o próprio assassino. Gilles Ottolini chegou tarde demais. Esse bisbilhoteiro não conseguirá matar sua sede. Daragane se arrependeu de tê-lo chamado assim, de modo tão grosseiro. Leu mais algumas páginas. Continuava sentindo aquele nervosismo e aquela apreensão que tinham tomado conta dele ao abrir o “dossiê”.
Contemplou a copa da espirradeira, que se movia lentamente, como se estivesse a respirar durante o sono. Sim, essa árvore era sua amiga, e ele se recordou do título de uma coletânea de poemas publicada por uma menina aos 8 anos: Árvore, minha amiga. Sentira inveja dessa menina, porque tinha a mesma idade que ela e também escrevia poemas naquela época. Em que ano fora aquilo? Um ano de sua infância quase tão distante quanto o ano de 1951, em que Colette Laurent tinha sido assassinada.
Dançavam de novo sob seus olhos as letras minúsculas com entrelinhamento mínimo. Para não se perder, deslizava o indicador sobre elas. Finalmente aparece o nome Guy Torstel. Está associado a outros três nomes, entre os quais ele tem a surpresa de reconhecer o de sua própria mãe. Os outros dois eram: Bob Bugnand e Jacques Perrin de Lara. Lembrava-se vagamente deles, e isso remontava também àquela época distante em que a menina com a mesma idade que a dele publicara Árvore, minha amiga. O primeiro, Bugnand, tinha um corpo atlético e vestia-se de bege; moreno, achava ele. O outro, um homem de cabeça enorme, como de uma estátua romana, costumava se apoiar no mármore da lareira, numa pose elegante, para falar. As recordações da infância são formadas muitas vezes por pequenos detalhes que se destacam no meio do nada. Teriam esses nomes chamado a atenção de Ottolini, e este então estabelecera uma relação entre eles e ele, Daragane? Não, é claro que não. Para começar, sua mãe não usava o mesmo sobrenome que ele. Além disso, os outros dois, Bugnand e Perrin de Lara, tinham-se perdido na noite dos tempos, e Ottolini era jovem demais para que pudessem evocar alguma coisa nele.
À medida que avançava na leitura, via o “dossiê” como uma espécie de quarto de despejo onde se misturavam fragmentos de duas investigações diferentes, não realizadas no mesmo ano; pois, agora, aparecia o ano de 1952. Entre as notas de 1951 referentes ao assassinato de Collete Laurent e as que figuravam nas duas últimas páginas do “dossiê”, ele conseguiu no entanto captar um pequenino fio condutor: “Colette Laurent” frequentara “uma casa em Saint-Leu-la-Forêt” onde vivia “uma certa Annie Astrand”. Essa casa estava sob permanente vigilância policial – mas por que razão? Em meio aos nomes mencionados havia o de Torstel, o de sua mãe, o de Bugnand e o de Perrin de Lara. Outros dois também não lhe eram desconhecidos: Roger Vincent e, sobretudo, o da mulher que morava na casa de Saint-Leu-la-Forêt, “uma certa Annie Astrand”.
Gostaria de pôr alguma ordem nessas notas confusas, mas a tarefa lhe parecia acima de suas forças. Além disso, nessa hora tardia da noite costumam surgir ideias esquisitas: o alvo que Ottolini tinha em mente ao reunir todas as notas de seu dossiê não era, na verdade, um antigo caso policial, mas sim ele próprio, Daragane. Com certeza Ottolini ainda não encontrara o ângulo correto do tiro; ensaiava, perdia-se em atalhos, incapaz de atingir o cerne da questão. Sentia-o rondando ao redor, em busca de alguma via de acesso. Talvez tivesse reunido esses elementos disparatados na expectativa de que Daragane reagisse a algum deles, como os investigadores de polícia que começam um interrogatório com assuntos sem nenhuma relevância, para com isso arrefecer aos poucos a postura defensiva do suspeito. Então, quando este se sente seguro, atacam brutalmente com a pergunta fatal.
Seus olhos se voltaram novamente para a copa da espirradeira do outro lado da janela; sentiu vergonha desses pensamentos. Estava perdendo o sangue-frio. As poucas páginas que tinha acabado de ler não passavam de um rascunho desacorçoado, uma porção de detalhes a esconder o essencial. Somente um nome o perturbava, com um efeito magnético: Annie Astrand. Mas ele era quase ilegível em meio àquelas palavras amontoadas com um entrelinhamento mínimo. Annie Astrand. Uma voz distante, captada no rádio, tarde da noite, que você sente se dirigir a você para lhe transmitir alguma mensagem. Tinha ouvido de alguém, um dia, que costumamos esquecer muito rapidamente as vozes daqueles que estiveram próximos de nós no passado. No entanto, se ouvisse agora a voz de Annie Astrand atrás dele, na rua, tinha certeza de que a reconheceria.
Quando se reencontrar com Ottolini, tomará cuidado para não chamar a atenção dele para esse nome: Annie Astrand. Mas não tem nem mesmo certeza de que o verá de novo. Se for o caso, apenas lhe mandará uma mensagem breve com as informações mirradas de que dispõe sobre Guy Torstel. Um homem que cuidava de uma livraria na galeria de Beaujolais, numa das laterais do jardim do Palais-Royal. Sim, só estivera com ele uma vez, cerca de cinquenta anos atrás, na noite de um domingo de outono, no Tremblay. Por uma questão de gentileza, poderia até mesmo lhe fornecer alguns detalhes complementares sobre os dois outros nomes, Bugnand e Perrin de Lara. Amigos de sua mãe, como também devia ser esse Guy Torstel. Naquele mesmo ano em que lera os poemas de Árvore, minha amiga, quando então sentira tanta inveja da menina que era sua autora, Bugnand e Perrin de Lara – talvez também o próprio Torstel – andavam sempre com um livro no bolso, como um missal, um livro ao qual pareciam dar enorme importância. Lembrava-se do título: Fabrizio Lupo. Certo dia, Perrin de Lara lhe dissera, com voz grave: “Quando crescer, você também irá ler Fabrizio Lupo.” Uma dessas frases que, devido ao seu impacto sonoro, ficam para sempre, misteriosas, em nossa vida. Muitos anos depois, ele procurou essa obra, mas, por azar, nunca conseguiu encontrá-la, e acabou não lendo, portanto, Fabrizio Lupo. Não precisaria mencionar todas essas recordações minúsculas. A perspectiva mais verossímil era que acabaria se livrando de Gilles Ottolini. Toques de telefone que ele não atenderia mais. Cartas, algumas registradas. O que mais incomodaria é que Ottolini ficaria plantado ali diante do prédio e, como não conhecia o código do portão, esperaria que alguém o abrisse, para entrar atrás. Subiria para tocar a campainha do apartamento. Seria melhor, então, desativar a campainha. Toda vez que saísse de casa, daria de cara com Gilles Ottolini, que o abordaria e o seguiria na rua. E ele não teria alternativa além de se refugiar em alguma delegacia de polícia. Mas os policiais não levariam a sério as suas explicações.
Quase uma hora da manhã. Considerou que numa hora como essa, em meio ao silêncio e à solidão, costumamos exagerar as coisas. Procurou se acalmar aos poucos. Chegou a dar uma gargalhada ao pensar no rosto de Ottolini, um rosto tão estreito, fino, que não se sabe quando está de frente ou de perfil.
As páginas datilografadas se espalhavam sobre a escrivaninha. Pegou um lápis com uma ponta vermelha e outra azul, usado para corrigir seus manuscritos. Começou a riscar as páginas, uma após outra, com grandes traços azuis, enquanto envolvia num círculo vermelho o nome ANNIE ASTRAND.
Eram cerca de duas horas da madrugada quando o telefone tocou. Adormecera no sofá.
– Alô... senhor Daragane? É Chantal Grippay...
Hesitou por um instante. Acabara de ter um sonho em que o rosto de Annie Astrand aparecia, e isso não lhe acontecia havia mais de trinta anos.
– Leu as fotocópias?
– Sim.
– Desculpe-me por telefonar tão tarde... mas estava tão ansiosa para ter a sua opinião... Está me ouvindo?
– Sim.
– Precisamos nos encontrar antes da volta do Gilles. Posso passar em sua casa?
– Agora?
– Sim. Agora.
Passou-lhe o endereço, o código do portão e o andar. Será que ainda sonhava? Poucos minutos atrás o rosto de Annie Astrand lhe parecia tão próximo... Ela estava ao volante do automóvel, na frente da casa em Saint-Leu-la-Forêt; ele se sentava ao lado dela, que lhe falava algumas coisas, mas ele não escutava o som de sua voz.
Sobre a escrivaninha, as fotocópias desordenadas. Esquecera que as tinha rabiscado com lápis azul. E o nome Annie Astrand saltava aos olhos por causa do círculo vermelho... Precisaria evitar que Gilles Ottolini visse aquilo. O círculo vermelho poderia lhe dar alguma pista. Com efeito, depois de virar as páginas lentamente e dar com aquilo, qualquer investigador de polícia perguntaria:
– Por que o senhor destacou este nome?
Olhou para a espirradeira, cuja copa estava imóvel, e isso o acalmou. A árvore era uma sentinela, a única pessoa que velava por ele. Colocou-se junto à janela que dava para a rua. Nenhum veículo circulava nessa hora; os postes de luz brilhavam à toa. Viu Chantal Grippay andando na calçada em frente, parecendo buscar pelos números dos prédios. Trazia na mão um saco plástico. Perguntou-se se ela teria vindo a pé desde a rua Charonne. Ouviu o portão do prédio bater com força lá embaixo e em seguida os seus passos na escada, passos lentos, como se ela hesitasse em subir. Antes que tocasse a campainha, ele abriu a porta. Ela se assustou. Novamente vestia camisa e calça pretas. Pareceu-lhe tão tímida como na primeira vez, no café da rua Arcade.
– Não queria incomodá-lo tão tarde...
Permanecia imóvel sob a moldura da porta, com jeito de quem pede desculpas. Pegou-a pelo braço para que entrasse, pressentindo que, caso contrário, ela daria meia-volta. No cômodo usado como escritório, indicou-lhe o sofá, onde ela se sentou, deixando o saco plástico bem ao lado do corpo.
– E então, o senhor leu?
Fez a pergunta com uma voz cheia de ansiedade. Por que dava tanta importância àquilo?
– Li. Mas realmente não posso ajudar o seu amigo. Não conheço essas pessoas.
– Nem mesmo Torstel?
Fitou-o com firmeza, diretamente nos olhos.
O interrogatório recomeçaria e iria até a manhã seguinte, sem interrupções. Depois, por volta das oito horas, alguém tocaria a campainha. Seria Gilles Ottolini, voltando de Lyon para rendê-la.
– Sim, nem mesmo Torstel.
– Por que então usar esse nome em um livro se o senhor não o conhecia?
Adotava um tom falsamente ingênuo.
– Escolho os nomes ao acaso, folheando a lista telefônica.
– Então o senhor não tem como ajudar o Gilles?
Sentou-se ao seu lado no sofá, aproximando o rosto do dela. Viu novamente a cicatriz na face esquerda.
– Ele gostaria que o senhor o ajudasse a escrever... Achava que essas coisas todas que constam dessas páginas o tocavam muito de perto...
Teve nesse instante a sensação de que os papéis começavam a se inverter e que faltava pouco para ela “abrir o bico”, conforme a expressão que ele ouvira tempos atrás em certo ambiente. Sob a luz da lâmpada, observou as olheiras e um tremor nas mãos dela. Pareceu-lhe mais pálida do que no momento em que lhe abrira a porta.
Na escrivaninha, bem visíveis, repousavam as páginas que havia rasurado com lápis azul. Mas ela não tinha notado nada.
– O Gilles leu todos os seus livros e informou-se sobre o senhor...
Tais palavras provocaram nele uma leve inquietação. Tivera o azar de atrair para si a atenção de uma pessoa que de agora em diante não o largaria mais. Como acontece, às vezes, com certas pessoas com quem você teve apenas uma troca de olhares. De repente, sem motivo algum, podem se tornar agressivas, ou se dirigir a você para dizer alguma coisa, e é muito difícil se livrar delas. Na rua, ele sempre se forçava a andar olhando para baixo.
– Além disso, a agência Sweerts está pensando em demiti-lo... Vai ficar desempregado de novo...
Daragane sentiu-se surpreso diante do tom de exaustão com que ela se exprimia, e acreditou captar nele também um toque de irritação, até um pouco de desprezo.
– Ele achava que o senhor o ajudaria... Tem a impressão de conhecê-lo há muito tempo... Sabe muita coisa sobre o senhor...
Aparentemente, queria falar mais. Aproximava-se aquela hora da noite em que as maquiagens se desmancham e nos entregamos ao embalo das confidências.
– Quer beber alguma coisa?
– Sim, alguma coisa bem forte... Preciso chacoalhar esta carcaça...
Daragane ficou espantado com o fato de ela, naquela idade, usar uma expressão tão antiquada. Fazia muito tempo que não ouvia a expressão “chacoalhar a carcaça”. Talvez Annie Astrand a utilizasse antigamente. Ela mantinha as mãos apertadas uma na outra, como se tentasse conter a tremedeira.
No armário da cozinha, encontrou apenas uma garrafa de vodca pela metade, e ainda se perguntou quem a teria deixado ali. Ela se sentara no sofá, as pernas esticadas, as costas apoiadas na enorme almofada laranja.
– Desculpe, mas estou um pouco cansada...
Bebeu um gole. E logo outro.
– Agora está melhor. Essas noitadas são terríveis...
Olhou para Daragane como se quisesse tomá-lo como testemunha de algo. Ele hesitou por um instante, antes de lhe fazer a pergunta:
– Que noitadas?
– Essa de onde estou vindo...
Em seguida, em tom seco:
– Sou paga para ir a essas “noitadas”... Faço pelo Gilles... Ele precisa de dinheiro...
Abaixou a cabeça. Parecia se arrepender de ter dito isso. Voltou-se para Daragane, que estava sentado no pufe de veludo verde de frente para ela.
– Não é a ele que o senhor deveria ajudar... mas a mim...
Dirigiu-lhe um sorriso que se poderia considerar pálido ou pobre.
– Sou uma moça honesta... Então, eu deveria alertá-lo em relação ao Gilles...
Mudou de posição, sentando-se na beira do sofá para falar-lhe face a face.
– Ele ficou sabendo coisas sobre o senhor... com esse amigo da polícia... Então, tentava entrar em contato...
Seria o cansaço? Daragane já não entendia o que ela dizia. Que “coisas” poderiam ser essas que aquele sujeito teria obtido da polícia sobre ele? De todo modo, as páginas do “dossiê” não eram conclusivas. E quase todos os nomes citados eram desconhecidos dele. Com exceção de sua mãe, de Torstel, de Bugnand e de Perrin de Lara. E esses, mesmo assim, de forma tão distante... Tiveram um peso tão insignificante em sua vida... Figurantes apenas, mortos havia muito tempo. Sim, também se mencionava Annie Astrand, mas pouquíssimo. Seu nome passava totalmente despercebido, encoberto pelos demais. E, ainda por cima, com um erro ortográfico: Astran.
– Não se preocupe comigo – disse Daragane. – Não tenho medo de ninguém. Muito menos de chantagistas.
Pareceu surpresa com o fato de ele empregar essa palavra: chantagista. Como se fosse uma obviedade na qual ela não havia pensado.
– Sempre tive dúvida de se ele na verdade não tinha roubado do senhor a caderneta de telefones...
Sorriu, e Daragane pensou que ela estivesse brincando.
– Às vezes tenho medo do Gilles... Por isso é que continuo com ele... A gente se conhece há muito tempo...
A voz ficava cada vez mais rouca. Ele temia que aquelas confidências durassem até a manhã seguinte. Conseguiria manter-se atento para ouvi-las até o fim?
– Ele não foi a Lyon a trabalho, mas sim para jogar no cassino...
– O Cassino de Charbonnières?
A frase lhe veio muito rapidamente, e ele próprio se espantou com essa palavra: “Charbonnières”. Tinha-a esquecido, e ela agora ressurgia do passado. Quando iam jogar no Cassino de Charbonnières, Paul e os outros saíam de Paris no começo da tarde da sexta-feira e só voltavam na segunda-feira. Isso então significava passar três dias com Chantal no quarto da praça de Graisivaudan.
– Sim, ele foi para o Cassino de Charbonnières. Conhece um crupiê de lá... Sempre volta do Cassino de Charbonnières com um pouco mais de dinheiro do que o normal.
– E você não o acompanha?
– Nunca. Só no começo, logo depois que nos conhecemos. Eu o esperava horas e horas no círculo Gaillon... Havia lá uma sala de espera para as mulheres...
Daragane tinha entendido bem? Assim como “Charbonnières”, o nome “Gaillon” lhe fora muito familiar em outros tempos. Chantal chegava de repente no quarto da praça Graisisvaudan para ficar com ele e dizia: “Paul está no círculo Gaillon... Podemos ficar juntos agora e até passar a noite inteira...”
Quer dizer que o círculo Gaillon ainda existia? Ou seria apenas uma dessas palavras insignificantes que ouvimos na infância e que retornam, como uma cantiga ou um balbucio, muitos anos depois, já perto do fim de nossa vida?
– Quando fico aqui em Paris sozinha, obrigam-me a participar de umas noitadas meio especiais... Aceito isso por causa do Gilles... Está sempre precisando de dinheiro... E agora será pior ainda, pois ele vai perder o emprego...
Mas por que, afinal, ele entrara na intimidade de Gilles Ottolini e de Chantal Grippay? Antigamente, conhecer gente nova lhe ocorria sempre de forma brutal e direta – duas pessoas que se chocam na rua, como os carrinhos de bate-bate de sua infância. Neste caso, tudo acontecera lentamente, uma caderneta de endereços perdida, vozes ao telefone, um encontro em um café... Sim, tudo tinha a leveza de um sonho. Também as páginas do “dossiê” haviam provocado nele uma sensação estranha: por causa de alguns nomes, sobretudo o de Annie Astrand, e de todas aquelas palavras amontoadas umas sobre as outras com um entrelinhamento mínimo, ele se via bruscamente confrontado com alguns detalhes de sua vida – refletidos, no entanto, em um espelho deformante –, desses detalhes desordenados que costumam nos perseguir nas noites de febre.
– Ele volta de Charbonnières amanhã... perto do meio-dia... Vai importuná-lo de novo... Não lhe diga de modo algum que nos encontramos.
Daragane se perguntava se estava sendo sincera ou se na verdade ela mesma informaria Ottolini desse encontro em sua casa nesta noite. Isso se não tinha sido ele próprio, Ottolini, que a encarregara dessa missão. De qualquer maneira, tinha certeza de que conseguiria se livrar deles rapidamente na hora que quisesse, como já fizera com muitas outras pessoas ao longo da vida.
– Em resumo – disse, com um ar meio brincalhão –, vocês formam um casal de bandidos.
Pareceu chocada diante dessas palavras. Ele logo se arrependeu. Ela curvara o corpo, e ele, por um momento, achou que fosse chorar. Inclinou-se na sua direção, mas ela evitou o seu olhar.
– Isso tudo é por causa do Gilles... Eu não tenho nada a ver com isso...
Em seguida, após um momento de hesitação:
– Cuidado com ele... Vai querer encontrá-lo todos os dias... Não vai lhe deixar respirar nem um segundo... É do tipo...
– Pegajoso...
– Sim. Muito pegajoso.
E ela parecia atribuir a esse adjetivo um significado mais preocupante do que ele poderia ter inicialmente.
– Não sei o que ele sabe sobre o senhor... Talvez alguma coisa que esteja no dossiê... Eu não o li... Ele o usará como meio de pressão...
Essa última expressão soava falsa em sua boca. Certamente fora Ottolini quem lhe falara de “meio de pressão”.
– Quer que o senhor o ajude a escrever um livro... Foi isso o que ele me disse...
– Tem certeza de que o que ele quer não é, na verdade, alguma outra coisa?
Ela hesitou por um momento.
– Não.
– Talvez me pedir dinheiro?
– Pode ser. Os jogadores estão sempre precisando de dinheiro... Sim, é claro que ele vai lhe pedir dinheiro...
Devem ter falado sobre isso depois do encontro na rua da Arcade. Sentiam-se certamente encurralados – expressão que Chantal usava antigamente ao falar sobre Paul. Mas este sempre tinha uma esperança de mudar a situação com seus martingales.
– Daqui a pouco ele não terá nem mesmo como pagar o aluguel de Graisivaudan.
Sim, os aluguéis na praça de Graisivaudan certamente tinham subido nos últimos quarenta e cinco anos. Daragane ocupava um quarto clandestinamente, graças a um amigo com quem o proprietário deixara as chaves. Nesse quarto havia um telefone com um cadeado no disco para que não se pudesse usá-lo. Mesmo assim, ele conseguia discar alguns números.
– Eu também morei na praça de Graisivaudan – disse.
Olhou-o surpresa, como se descobrisse haver laços entre eles. Daragane quase acrescentou que a moça que às vezes se encontrava com ele no quarto, ali, também se chamava Chantal. Mas para quê? Ela disse:
– Talvez seja o mesmo quarto de Gilles... Numa água-furtada... Tem de pegar o elevador e depois subir uma escadinha...
Isso mesmo, o elevador não subia até o último andar – um corredor com uma sucessão de quartos, todos com um número meio apagado na porta. O seu era o número 5. Lembrava-se disso por causa de Paul, que sempre tentava lhe explicar uma de suas apostas no sistema martingale “em torno do cinco neutro”.
– Também tinha um amigo que apostava em corridas, e no Cassino de Charbonnières...
Parecendo mais calma diante dessas palavras, ela lhe sorriu levemente. Deveria estar raciocinando que, apesar de algumas dezenas de anos de diferença, eles pertenciam ao mesmo universo. Mas qual?
– Então, você está vindo de uma de suas noitadas?
Logo se arrependeu de ter feito a pergunta, mas, aparentemente, ela se sentia agora mais à vontade:
– Sim... É um casal que organiza umas noitadas meio especiais no apartamento deles... O Gilles trabalhou como motorista para eles por um tempo... Telefonam de vez em quando para que eu compareça... O Gilles é que insiste que eu vá... Eles me pagam... Não tenho como não ir...
Ouvia-a sem ousar interrompê-la. Talvez ela já nem se dirigisse a ele, como se tivesse esquecido a sua presença. Devia ser bem tarde. Cinco horas da manhã? O dia logo chegaria, desfazendo a penumbra. Ele se veria só, em seu escritório, depois de um sonho ruim. Não, ele nunca perdera aquela caderneta de endereços. Gilles Ottolini e Joséphine Grippay, que preferia ser chamada de Chantal, nunca haviam existido.
– Também vai ser muito difícil para o senhor, agora, se livrar do Gilles... Não irá largá-lo mais... É capaz de esperá-lo na saída do seu prédio...
Ameaça ou alerta? Nos sonhos, pensou Daragane, não sabemos muito bem a que nos agarrar. Sonho? Vamos ver quando despertar o dia. No entanto, ali, na frente dele, o que havia certamente não era um espectro. Não saberia dizer se ouvimos as vozes no sonho, mas ele ouvia muito bem a voz rouca de Chantal Grippay.
– Tenho um conselho: não atenda mais nenhum telefonema dele.
Inclinou-se, falando baixinho, como se Gilles Ottolini estivesse atrás da porta.
– Deixe recados no meu celular... E ligarei de volta quando não estiver com ele... Eu o deixarei a par daquilo que ele pretende fazer. Assim, o senhor poderá evitá-lo.
Decididamente, a moça se mostrava muito solícita, mas Daragane preferiria lhe dizer que se viraria sozinho. Já cruzara com outros Ottolinis em sua vida. Conhecera vários prédios em Paris com duas saídas, graças às quais sempre se livrava das pessoas. Além disso, para pensarem que não estava em casa, muitas vezes deixava as luzes apagadas, por causa das duas janelas que davam para a rua.
– Emprestei-lhe um livro dizendo que foi escrito pelo Gilles... O passeante hípico...
Tinha se esquecido desse livro. Deixara na pasta laranja, de onde tirara apenas as fotocópias.
– Pois é mentira... O Gilles diz ter escrito esse livro porque o autor tem o mesmo sobrenome que ele... Mas não o nome... Além do mais, esse sujeito já está morto...
Passou a remexer no saco plástico que deixara ao seu lado no sofá. Dali tirou o vestido de seda preto com as duas andorinhas amarelas que Daragane havia notado no quarto dela na rua de Charonne.
– Esqueci meus sapatos de salto alto na casa daquelas pessoas...
– Conheço esse vestido – disse Daragane.
– Eles querem que eu o vista toda vez que vou à casa deles.
– É um vestido esquisito...
– Achei no fundo de um armário no meu quarto. Tem uma marca atrás.
Estendeu-lhe o vestido. Na etiqueta, ele leu: “Silvy-Rosa. Moda costura. Rua Estelle. Marselha.”
– Talvez você o tenha usado em uma vida anterior...
Tinha dito a ela a mesma coisa, na tarde do dia anterior, no quarto da rua de Charonne.
– Acha mesmo?
– Uma sensação... Por causa da etiqueta, que é bem antiga...
Ela olhou então a etiqueta com ar desconfiado. Em seguida, colocou o vestido ao seu lado, no sofá.
– Espere um pouco... Já volto...
Ele saiu do escritório para ver se tinha deixado a luz acesa na cozinha, cuja janela dava para a rua. Sim, a luz estava acesa. Apagou-a e encostou-se na janela. Pouco antes, imaginara Ottolini ali, de sentinela. Pensamentos desse tipo nos ocorrem tarde da noite, quando ainda não adormecemos, pensamentos que havíamos tido antes, na infância, apenas para nos amedrontar. Ninguém. Mas ele poderia estar escondido atrás da fonte ou, à direita, atrás de uma das árvores da praça.
Ficou ali por longo tempo, parado, ereto, de braços cruzados. Não viu ninguém na rua. Nenhum automóvel. Se tivesse aberto a janela, teria ouvido o murmúrio da fonte e se perguntaria se não estava na verdade em Roma, não em Paris. Roma, de onde ele recebera, muitos anos atrás, um cartão-postal de Annie Astrand, último sinal de vida que ela lhe tinha dado.
Quando voltou ao escritório ela estava deitada no sofá, vestida com aquele estranho vestido de seda preto com duas andorinhas amarelas. Ele teve um momento de confusão. Ela já estava com esse vestido quando ele lhe abriu a porta? Não. Sua camisa e sua calça pretas estavam enroladas no piso de madeira, ao lado de suas sapatilhas. Ela estava de olhos fechados, e sua respiração era regular. Fingia dormir?
Ela saíra por volta do meio-dia, e Daragane, como de costume, estava sozinho em seu escritório. Ela temia que Ottolini já pudesse ter voltado. Quando ele ia ao cassino de Charbonnières, às vezes pegava o trem para Paris bem cedinho na segunda-feira. Pela janela, ele a vira distanciar-se, com sua camisa e sua calça pretas. Não carregava o saco plástico. Esquecera-o, junto com o vestido preto, sobre o sofá. Daragane demorou para encontrar o cartão de visita que ela lhe dera, um cartão de visita de papel amarelecido. Mas o celular não atendia. Ela acabaria telefonando quando percebesse que esquecera o vestido.
Tirou-o do saco e olhou de novo a etiqueta: “Silvy-Rosa. Costura moda. Rua Estelle. Marselha.” Isso lhe lembrava alguma coisa, apesar de não conhecer Marselha. Já havia lido esse endereço ou pelo menos ouvido o nome. Ainda que de aparência insignificante, esse tipo de enigma podia ocupar a sua mente, quando era jovem, durante dias e dias, período em que procurava obstinadamente uma resposta. Mesmo em se tratando de um detalhe minúsculo, experimentava uma sensação de angústia e de falta de alguma coisa enquanto não o conectasse ao conjunto, como uma peça perdida de um quebra-cabeça. Podia ser uma frase ou um verso cujo autor ele buscava; ou, ainda, meramente um nome. “Silvy-Rosa. Costura moda. Rua Estelle. Marselha.” Fechou os olhos, tentando se concentrar. Veio-lhe à mente uma palavra, que parecia estar ligada àquela etiqueta: “A Chinesa.” Precisaria de paciência para mergulhar fundo na água a fim de descobrir o laço entre “Silvy-Rosa” e “A Chinesa”, mas já fazia alguns anos que já não encontrava energia para se dedicar à realização de proezas desse gênero. Não. Estava velho demais. Em vez de mergulhar, preferia ficar boiando na água... “A Chinesa”... Seria por causa dos cabelos pretos e dos olhos ligeiramente amendoados de Chantal Grippay?
Sentou-se à escrivaninha. Naquela noite, ela não tinha notado aquelas páginas dispostas ali de forma desordenada, tampouco os riscos feitos por ele com lápis azul. Abriu a pasta de papelão que deixara perto do telefone, tirou o livro de dentro dela e começou a folhear O passeante hípico. Tratava-se de uma reimpressão recente de uma obra cujo copyright datava de antes da guerra. Como Gilles Ottolini podia ter a cara de pau, ou a ingenuidade, de querer se passar por seu autor? Fechou o livro e voltou os olhos para as páginas em desordem, à sua frente. Na primeira leitura, tinha pulado várias frases devido às letras apertadas demais.
Mais uma vez as palavras dançavam diante de seus olhos. Havia claramente mais detalhes sobre Annie Astrand, mas sentia-se exausto demais para tomar conhecimento deles. Faria isso mais adiante, à tarde, com a cabeça descansada. Isso se não optasse simplesmente por rasgar tudo aquilo, página por página. Sim, mais tarde voltaria ao assunto.
Ao guardar o “dossiê” na pasta de papelão, seus olhos depararam com a fotografia da criança, que ele tinha esquecido. Do lado de trás estava escrito: 3 fotos. Criança não identificada. Revista e prisão Astrand, Annie. Posto de fronteira Vintimille. 21 de julho de 1952. Sim, tratava-se de uma ampliação de uma foto 3 x 4, como ele havia imaginado na tarde do dia anterior no quarto da rua de Charonne.
Não conseguia tirar os olhos da fotografia, perguntando-se o motivo pelo qual a esquecera entre as páginas do “dossiê”. Seria algo que o incomodava, alguma prova, como se diz no linguajar jurídico, que ele, Daragane, preferira apagar da memória? Sentiu uma espécie de vertigem, uma comichão no couro cabeludo. Era obrigado a admitir que aquela criança, que as dezenas de anos passados mantinham a uma distância tão grande que lhe parecia um ser estranho, era realmente ele.
Em outro outono, diferente daquele do domingo no Tremblay, mas também distante, Daragane recebera uma carta, na praça de Graisivaudan. Passava na frente do cubículo da zeladora justamente quando ela se preparava para distribuir a correspondência do prédio.
– Imagino que Jean Daragane seja o senhor.
Entregou-lhe uma carta em cujo envelope estava o seu nome, escrito com tinta azul. Nunca havia recebido nenhuma correspondência naquele endereço. Não conseguia reconhecer a letra, uma letra grande, que ocupava todo o envelope: Jean Daragane, praça de Graisivaudan, 8, Paris. Faltara lugar para escrever o número do distrito. Na parte de trás do envelope, um nome e um endereço: A. Astrand, rua Alfred-Dehodencq, 18, Paris.
Inicialmente, esse nome não lhe disse nada. Seria por conter apenas a inicial “A” como prenome? Depois dirá a si mesmo que tivera um pressentimento, pois hesitara em abrir a carta. Foi até a fronteira com Neuilly e Levallois, na área em que dois ou três anos depois estacionamentos e casas térreas seriam demolidos para dar lugar à construção da marginal. ASTRAND. Como fora possível não ter entendido logo de cara de quem se tratava?
Deu meia-volta e entrou em um café no térreo de um dos blocos de edifícios. Sentou-se, tirou a carta do bolso, pediu um suco de laranja e, se fosse possível, uma faca. Abriu a carta com a ajuda da faca, pois temia rasgar o papel bem onde se registrava o endereço, atrás do envelope, se usasse apenas as mãos. Dentro havia apenas três fotografias, do tipo de foto para identidade. Nas três, ele se reconheceu, criança. Recordava-se da tarde em que tinham sido tiradas, numa lojinha depois da ponte Saint-Michel, em frente ao Palácio da Justiça. Desde então, passara frequentemente por essa lojinha, que estava igual e exatamente no mesmo lugar. Agora, precisava encontrar essas fotos para compará-las com a ampliação que integrava o “dossiê” de Ottolini. Estariam na maleta em que guardava cartas e documentos datados de pelo menos quarenta anos atrás e da qual, por sorte, tinha perdido a chave? Inútil. Eram certamente as mesmas fotos. “Criança não identificada. Revista e prisão Astrand, Annie. Posto de fronteira Vintimille. 21 de julho de 1952.” Tinham-na provavelmente detido e revistado no momento em que se preparava para cruzar a fronteira.
Ela lera o seu romance No escuro do verão e nele reconhecera um episódio daquele verão. Não fosse isso, por que lhe escreveria quinze anos depois? Mas como teria descoberto o seu endereço provisório? Ainda mais que ele raramente dormia na praça de Graisivaudan, passando a maior parte do tempo em um quarto na rua Coustou ou no bairro da Place Blanche.
Escrevera o livro na esperança justamente de que ela lhe desse algum sinal de vida. Para ele, escrever era também emitir sinais, como um farol, ou lançar mensagens em código Morse a certas pessoas cujos destinos ignorava. Bastava jogar seus nomes ao acaso, em diversas páginas, e aguardar que lhe dessem notícia. No caso de Annie Astrand, porém, não havia mencionado o nome, buscando, ao contrário, embaralhar as pistas. Ela não tinha como se reconhecer em nenhum dos personagens. Ele nunca conseguira compreender que se pode colocar em um romance uma pessoa que foi realmente importante para você. Uma vez tendo invadido o romance como se atravessasse um espelho, ela lhe escapa totalmente; nunca existiu de verdade; reduziu-se a nada. É preciso proceder de maneira mais sutil. Dessa maneira, o único trecho de No escuro do verão que poderia chamar a atenção de Annie Astrand era a cena em que a mulher e a criança entram na lojinha do bulevar do Palácio da Justiça. O menino não entende por que ela o coloca na cabine de fotos. Ela lhe diz para olhar a tela fixamente sem mexer a cabeça. Puxa a cortina preta. Ele está sentado no banquinho. Um flash o perturba e ele fecha os olhos. Ela puxa de novo a cortina preta, e ele sai da cabine. Aguardam que as fotos caiam pela fenda lateral da máquina. E precisam refazer tudo, pois ele saiu nas fotos de olhos fechados. Depois, ela o leva para tomar um suco de romã no café ao lado. Foi assim que aconteceu. Ele descrevera a cena com exatidão, sabendo que essa passagem não tinha muito que ver com o restante do romance. Era um pedaço de realidade introduzido ali fraudulentamente, como essas mensagens pessoais que se divulgam no meio de pequenos anúncios de jornal e que só podem ser decifradas por uma única pessoa.
A tarde chegava ao fim e ele estranhava não ter recebido nenhum telefonema de Chantal Grippay. Certamente tinha percebido que o vestido preto ficara na casa dele. Discou então para o seu celular, mas ninguém atendeu. Depois do sinal, vinha o silêncio. Chegara à beira de um precipício, para além da qual nada havia além de um vazio imenso. Perguntou-se se o número continuava ativo ou se Chantal Grippay não teria perdido o celular. Ou, ainda, se ela estava viva.
A partir daí, surgiu-lhe uma dúvida em relação a Gilles Ottolini. Digitou no teclado do computador: “Agência Sweers, Paris.” Não havia nenhuma agência Sweers em Paris. Nem no bairro da estação Saint Lazare nem em nenhum outro distrito. O suposto autor de O passeante hípico era um funcionário-fantasma de uma agência imaginária.
Quis então saber se havia alguma menção a Ottolini relacionada com a praça de Graisivaudan. Entre os oito nomes que apareciam vinculados à praça, nenhum era o de Ottolini. De toda maneira, o vestido preto estava ali, sobre o encosto do sofá – prova de que aquilo tudo não fora um sonho. Ao acaso, digitou então “Silvy-Rosa. Costura moda. Rua Estelle. Marselha”. Tudo o que apareceu, porém, foi “Consertos Rosa, rua do Sauvage, 18, 68100 Mulhouse”. Fazia já várias semanas que não usava o computador, no qual a maioria de suas pesquisas não dava em nada. As raras pessoas cujos traços ele teria vontade de recompor haviam conseguido escapar da vigilância exercida por essa máquina. Tinham se livrado da rede seja por pertencerem a outra época, seja, também, por não serem pessoas, digamos, angelicais. Lembrou-se de seu pai, que mal conhecera, mas que uma vez lhe dissera em tom suave: “Eu seria capaz de deixar dez juízes de instrução totalmente desanimados.” Nenhum vestígio de seu pai no computador. Tampouco de Torstel ou de Perrin de Lara, cujos respectivos nomes ele digitara no teclado, na véspera, antes da chegada de Chantal Grippay. No caso de Perrin de Lara, produzira-se o fenômeno de sempre: quantidades enormes de Perrin apareciam na tela; uma noite inteira não seria suficiente para repassar toda a lista. Aqueles de quem ele gostaria de ter notícias se escondiam frequentemente em meio a uma multidão de anônimos, ou então por trás do nome de alguma figura célebre com o mesmo nome. E quando digitava uma pergunta direta: “Jacques Perrin de Lara ainda está vivo? Se sim, informe-me seu endereço”, o computador era incapaz de responder; podiam-se sentir a hesitação e certo desconforto trafegando pelos vários fios que ligavam o aparelho à tomada elétrica. Às vezes surgiam algumas pistas, todas falsas: “Astrand” mostrava algumas indicações na Suécia, com várias pessoas com esse sobrenome na cidade de Gotemburgo.
Fazia calor demais, e o veranico prometia durar pelo menos até novembro. Em vez de aguardar o pôr do sol no escritório, como de costume, preferiu descer. Mais tarde, quando estivesse de volta, tentaria, com a ajuda de uma lupa, decifrar as fotocópias das páginas cuja leitura fizera rápido demais na véspera. Talvez assim teria a sorte de encontrar alguma coisa sobre Annie Astrand. Lamentava não lhe ter feito essas perguntas ao reencontrá-la quinze anos depois do episódio da cabine de foto, mas logo entendeu também que não conseguiria tirar dela nenhuma resposta.
Na rua, sentia-se mais indiferente do que nos dias anteriores. Talvez fosse um equívoco mergulhar naquele passado distante. Para quê? Fazia anos que já não pensava naquilo tudo. Aquele período de sua vida lhe surgia como se fosse por trás de uma vidraça opaca. Esta permitia que se filtrasse uma claridade difusa, sem que, todavia, fosse possível distinguir rostos ou silhuetas. Um vidro liso, espécie de tela protetora. Talvez tivesse conseguido, graças a uma amnésia voluntária, proteger-se definitivamente desse passado. Ou então o próprio tempo tratara de esmaecer as cores e as asperezas mais evidentes.
Ali, na calçada, sob a luz do veranico que proporcionava às ruas de Paris uma suavidade atemporal, tinha de novo a sensação de estar boiando no vazio. Uma sensação que passara a experimentar fazia apenas um ano, o que levava a se questionar se não estava relacionada com a aproximação da velhice. Quando bem jovem, vivera esses momentos de quase sono em que nos deixamos levar – normalmente depois de uma noite em claro –, mas agora era diferente: a impressão de estar descendo uma ladeira na “banguela”, com o motor desligado. Até quando?
Avançava deslizando, levado apenas pela brisa e pelo peso do próprio corpo. Chocava-se com pedestres que avançavam em sentido contrário e não tinham tempo de desviar. Pedia desculpas. Não era culpa deles. Normalmente era mais atento ao caminhar na rua, sempre pronto até a mudar de calçada se visse de longe algum conhecido que pudesse abordá-lo. Aprendera que somente em ocasiões muito raras cruzamos com pessoas que gostaríamos realmente de encontrar. Quantas vezes isso ocorre? Duas ou três vezes ao longo da vida?
Bem que gostaria de ir a pé até a rua de Charonne para devolver o vestido a Chantal Grippay, mas poderia dar de cara com Gilles Ottolini. Bem, mas e daí? Isso talvez lhe permitisse captar melhor a situação imprecisa daquele sujeito. Voltaram-lhe à mente as palavras de Chantal Grippay: “Querem demiti-lo da agência Sweers.” Mas ela devia saber muito bem que essa tal agência Sweers não existia. E quanto ao livro, O passeante hípico, cujo copyright datava de antes da guerra? Teria Ottolini entregue o manuscrito à editora do Sablier em uma vida anterior e com outro nome? Ele, Daragane, bem que merecia algumas explicações sobre tudo isso.
Chegara às arcadas do Palais-Royal. Caminhara sem objetivo claro, mas, atravessando a Ponte des Arts e depois o pátio do Louvre, seguira na verdade um itinerário que lhe era muito familiar na infância. Ao avançar pelo chamado Louvre dos Antiquários, recordou-se das vitrines natalinas das Grandes Lojas do Louvre, naquele mesmo local. E agora, parado no meio da galeria de Beaujolais, como se tivesse chegado ao ponto final da caminhada, surgiu-lhe outra lembrança. Uma lembrança que desaparecera havia tanto tempo, a tão grande profundidade, tão distante da luz, que agora parecia nova. Perguntou-se se seria mesmo uma lembrança ou então uma imagem instantânea que, depois de se separar do passado, já não pertencia a este mesmo passado, como um elétron livre: sua mãe e ele – numa das raras oportunidades em que estiveram juntos – entrando em uma loja de livros e de quadros e sua mãe falando com dois homens, um deles sentado a uma escrivaninha no fundo da loja e o outro apoiado com o cotovelo no mármore sobre a lareira. Guy Torstel. Jacques Perrin de Lara. Estanques ali, para sempre. Como teria sido possível que, no domingo de outono em que voltava do Tremblay com Chantal e Paul no automóvel de Torstel, este nome não lhe evocara nada, nem mesmo o seu cartão de visita, em que, no entanto, aparecia o endereço daquela loja?
No carro, Torstel chegara até a fazer alusão à “casa nos arredores de Paris” onde o tinha visto criança, a casa de Annie Astrand. Daragane passara quase um ano ali, em Saint-Leu-la-Forêt. “Lembro-me de um menino”, dissera Torstel. “Esse menino era você, eu suponho.” E Daragane lhe respondera secamente, como se isso não lhe dissesse respeito. Foi justamente nesse domingo que ele começou a escrever No escuro do verão, assim que Torstel o deixou na praça de Graisivaudan. E em nenhum momento teve a presença de espírito de lhe perguntar se ele se lembrava da mulher que vivia naquela casa, em Saint-Leu-la-Forêt, “uma certa Annie Astrand”. Ou se por acaso sabia algo sobre o destino dela.
Sentou-se num banco do jardim, sob o sol, perto das arcadas da galeria de Beaujolais. Devia ter caminhado por mais de uma hora sem se dar conta de que fazia mais calor do que nos outros dias. Torstel. Perrin de Lara. Sim, ele estivera com Perrin de Lara pela última vez no mesmo ano daquele domingo no Tremblay – tinha apenas 21 anos –, e esse encontro teria caído na noite fria do esquecimento – como diz a canção – não fosse Annie Astrand. Ele estava em um café da rotatória da avenida Champs-Elysées que anos depois se transformaria numa drogaria. Eram dez horas da noite. Uma pequena parada antes de retomar a caminhada de volta para a praça de Graisivaudan, ou melhor, para um quarto na rua Coustou que havia alugado fazia algum tempo por seiscentos francos mensais.
Naquela noite, não se dera conta imediatamente da presença de Perrin de Lara, bem à sua frente, sozinho, no terraço.
Por que lhe dirigiu a palavra? Fazia mais de dez anos que se haviam visto; aquele homem certamente não tinha como reconhecê-lo. Mas ele acabara de publicar o primeiro livro, e Annie Astrand estava presente em sua mente de forma esmagadora. Talvez Perrin de Lara soubesse algo sobre ela.
Postou-se diante da mesa dele, que ergueu a cabeça. Não, não o reconhecia.
– Jean Daragane.
– Ah, Jean...
Sorriu-lhe levemente, como se estivesse incomodado por alguém encontrá-lo àquela hora da noite, sozinho, em um lugar como aquele.
– Há quanto tempo... Você cresceu... Sente-se, Jean...
Indicou-lhe a cadeira à sua frente. Daragane hesitou, por uma fração de segundo. A porta de vidro do terraço estava entreaberta. Bastava-lhe emitir aquela frase com que estava tão habituado: “Espere só um pouco... já volto...”, sair à rua, respirar fundo e, sobretudo, não olhar para trás, para a sombra que permaneceria ali para sempre a aguardá-lo, sozinha, no terraço de um café.
Sentou-se. O rosto de estátua romana de Perrin de Lara engordara, e os caracóis de seus cabelos estavam grisalhos. Trajava um paletó de linho azul-marinho, leve demais para a estação. Diante dele, uma taça de martíni pela metade, a qual Daragane reconheceu pela cor.
– E sua mãe? Faz anos que não nos falamos... Sabe... Éramos como irmãos...
Ergueu os ombros, e seu olhar era de preocupação.
– Fiquei muito tempo fora de Paris...
Aparentemente, queria lhe falar sobre o motivo dessa longa ausência. Mas ficou em silêncio.
– Reencontrou seus amigos Torstel e Bob Bugnand?
Perrin de Lara pareceu surpreso por ouvir esses dois nomes da boca de Daragane. Surpreso e desconfiado.
– Você tem boa memória... Lembra-se deles?
Olhou fixamente para Daragane, um olhar incômodo.
– Não... Já não os vejo... É incrível a memória das crianças... E você? O que conta de novo?
Daragane sentiu um amargor acompanhando essa pergunta. Mas talvez se enganasse. Talvez Perrin de Lara estivesse apenas sob o efeito de um martíni que se consome sozinho, às dez horas da noite, no outono, no terraço de um café.
– Estou tentando escrever um livro...
E logo se repreendeu por ter feito a confidência.
– Ah... como naquele tempo em que sentia ciúme de Minou Drouet?
Daragane havia esquecido esse nome. Sim, sim, era a menina da mesma idade que ele e que escrevera aquela seleção de poemas, Árvore, minha amiga.
– A literatura é uma coisa muito difícil... Imagino que você já tenha percebido isso...
Perrin de Lara adotara um tom doutoral que surpreendeu Daragane. O pouco que sabia e a recordação que guardava dele de infância induziam-no a vê-lo como a um homem superficial. Um corpo apoiado em mármores de lareiras. Teria pertencido, como sua mãe e Torstel, e talvez também Bob Bugnand, ao “Clube das Crisálidas”?
Por fim, perguntou:
– Foi em definitivo que o senhor voltou para Paris depois dessa longa ausência?
O outro ergueu os ombros e dirigiu-lhe um olhar arrogante, como se Daragane lhe tivesse faltado com o respeito.
– Não sei o que você entende por “em definitivo”.
Daragane também não sabia. Perguntara apenas para sustentar a conversa, mas o sujeito se abespinhara. Sentiu vontade de levantar-se e dizer: “Muito bem, boa sorte, senhor...” e, antes de sair pela porta de vidro do terraço, dirigir-lhe um sorriso fazendo um aceno de despedida, como numa estação de trem. Segurou-se, porém. Precisava ter paciência. Talvez o outro soubesse alguma coisa sobre Annie Astrand.
– O senhor me indicava leituras, lembra?
Esforçava-se para adotar um tom emotivo na voz. E, no fim das contas, era verdade: quando criança, ganhou daquele fantasma um volume das Fábulas de La Fontaine, numa edição da coleção de capa verde-claro dos Clássicos Hachette. Tempos depois, esse mesmo homem o aconselhara a ler Fabrizio Lupo quando fosse maior.
– Realmente, você tem uma bela memória...
O tom suavizara. Perrin de Lara sorriu para ele. Mas foi um sorriso tenso. Inclinou-se na direção de Daragane.
– Vou lhe dizer uma coisa: já não reconheço a Paris onde vivi... Cinco anos de ausência foram suficientes... Tenho a sensação de estar em uma cidade estranha.
Comprimia os maxilares, como se quisesse impedir que as palavras saíssem de sua boca em um fluxo desordenado. Provavelmente fazia muito tempo que não conversava com alguém.
– As pessoas já não atendem ao telefone... Não sei se continuam vivas, se me esqueceram, ou se já não têm tempo de se comunicar...
O sorriso se ampliou. Seu olhar ficou mais terno. Talvez pretendesse atenuar a tristeza, que combinava à perfeição com aquele terraço vazio, onde a iluminação deixava espaço para várias áreas de penumbra.
Parecia, agora, arrependido de ter feito essas confidências. Reergueu o tronco e virou a cabeça para a porta de vidro do terraço. Apesar do inchaço no rosto e dos caracóis grisalhos que faziam sua cabeleira lembrar uma peruca, mantinha a típica imobilidade de estátua de sua figura de pelo menos dez anos antes, uma das raras imagens de Jacques Perrin de Lara que Daragane guardava na lembrança. E tinha também o hábito de se colocar de lado para falar com seus interlocutores, como agora. Devem ter-lhe dito, no passado, que possuía um belo perfil – embora todos os que pudessem ter dito isso já estivessem agora mortos.
– Mora aqui no bairro? – perguntou Daragane.
Mais uma vez inclinou-se na sua direção, hesitando na resposta.
– Aqui perto. Em um hotelzinho no bairro de Ternes.
– Podia me deixar seu endereço...
– Faz questão disso?
– Sim. Seria um prazer vê-lo novamente.
Agora entraria na questão central. E sentia certa apreensão diante disso. Limpou a garganta.
– Queria lhe pedir uma informação.
A voz saiu quase apagada. Captou a surpresa no rosto de Perrin de Lara.
– É sobre uma pessoa que o senhor talvez tenha conhecido... Annie Astrand.
Pronunciou o nome com força, destacando bem as sílabas, como fazemos ao telefone quando alguma interferência parece cortar a nossa voz.
– Repita o nome...
– ANNIE ASTRAND.
Quase gritou. Parecia ter lançado no ar um grito de socorro.
– Morei muito tempo na casa dela, em Saint-Leu-la-Forêt.
As palavras que acabava de pronunciar eram muito claras, com uma sonoridade metálica em meio ao silêncio daquele terraço. Mesmo assim, considerou que isso talvez não servisse para nada.
– Sim... eu lembro... Fomos visitar você uma vez ali, com sua mãe...
Calou-se. E nada mais falaria sobre o assunto. Era apenas uma lembrança longínqua que não lhe dizia respeito. Não devemos nunca contar com ninguém para ter resposta às nossas perguntas.
Acrescentou, no entanto:
– Uma mulher muito jovem, do tipo dançarina de cabaré. Bob Bugnand e Torstel a conheciam melhor do que eu. Sua mãe também. Acho que ela tinha sido presa... Qual o seu interesse nessa mulher?
– Ela foi muito importante para mim.
– Ah, sim... Bem, sinto muito não poder lhe dar informações. Ouvi sua mãe e Bob Bugnand falarem vagamente dela...
Adotara uma voz mundana. E Daragane se perguntou se não estaria imitando alguém que o impressionara na juventude e cujos gestos e entonações exercitara durante noites diante do espelho, alguém que talvez expressasse para ele, um bom moço de certo modo ingênuo, a elegância parisiense.
– A única coisa que posso lhe dizer é que ela esteve presa... É tudo o que sei dessa mulher...
As luzes de neon do terraço foram apagadas, para que os últimos fregueses entendessem que estava na hora de fechar o café. Perrin de Lara mantinha-se calado na penumbra. Daragane pensou numa sala de cinema de Montparnasse onde alguns dias antes entrara para se proteger da chuva. Não era uma sala aquecida, e os poucos espectadores se mantinham agasalhados. Costumava ficar de olhos fechados no cinema. Para ele, as vozes e as músicas dos filmes eram mais sugestivas do que as imagens. Veio-lhe à lembrança, então, uma frase do filme daquela noite, emitida por uma voz abafada antes de as luzes se reacenderem, e ele tinha a ilusão de que era ele próprio quem a pronunciava: “Que caminhos estranhos eu tive de percorrer para chegar até você.”
Alguém tocou-lhe o ombro.
– Senhores, estamos fechando... É hora de partir.
Atravessaram a avenida e caminharam pelo passeio onde, durante o dia, montam-se as barracas da feira de selos. Daragane hesitava em deixar Perrin de Lara. Este parou de repente, como se uma ideia lhe tivesse surgido bruscamente na cabeça.
– Não saberia lhe dizer nem mesmo o motivo pelo qual ela tinha sido presa...
Estendeu a mão, que Daragane se apressou em apertar.
– Bem, até logo, eu espero... Ou então até daqui a outros dez anos...
Daragane não sabia o que responder. Ficou ali, na calçada, seguindo-o com os olhos. O outro, com seu paletó excessivamente leve, se afastava. Caminhava a passos lentos sob as árvores. Quando ia atravessar a avenida Marigny, quase perdeu o equilíbrio, empurrado pelas costas por um golpe de vento e um punhado de folhas mortas.
Em casa, acionou a secretária eletrônica para ver se havia alguma mensagem de Chantal Grippay ou de Gilles Ottolini. Nada. O vestido preto com as andorinhas continuava sobre o encosto do sofá, e a pasta laranja no mesmo lugar sobre a escrivaninha, perto do telefone. Pegou as fotocópias.
À primeira vista, muito pouco sobre Annie Astrand. Mas, sim, havia alguma coisa. Mencionava-se o endereço da casa em Saint-Leu-la-Forêt: “rua da Ermitage, 15”, seguido de um comentário registrando que uma busca fora feita ali, no mesmo ano em que Annie o levara para tirar a foto e em que ela fora revistada no posto da fronteira de Vintimille. Citavam-se seu irmão Pierre (rua Laferrière, 6, 9º distrito de Paris) e Roger Vincent (rua Nicolas-Chuquet, 12, 17º distrito de Paris), de quem desconfiavam fosse seu “protetor”.
Registrava-se até mesmo que a casa em Saint-Leu-la-Forêt estava em nome de Roger Vincent. Também estava ali uma cópia de um relatório bem mais antigo da Direção da Polícia Judiciária, Brigada de Costumes, Investigações e Informações, referente à assim chamada Astrand Annie, moradora em um hotel, na rua Notre-Dame-de-Lorette, 46, e onde estava escrito “Conhecida em Étoile Kléber”. Mas isso tudo era confuso, como se alguém – algum Ottolini? –, recopiando documentos de arquivos às pressas, tivesse saltado algumas palavras e encaixado de vez em quando algumas frases escolhidas ao acaso e sem nenhuma relação umas com as outras.
Seria realmente útil mergulhar de novo naquela massa espessa e viscosa? Continuando a leitura, Daragane experimentava a mesma sensação da véspera ao tentar decifrar essas mesmas páginas: frases que ouvimos em um quase sono, das quais as poucas palavras de que nos recordamos na manhã seguinte não fazem nenhum sentido. Isso tudo, recheado com endereços precisos: rua da Ermitage, 15; rua Nicolas-Chuquet, 12; rua Notre-Dame-de-Lorette, 46, provavelmente com o objetivo de definir alguns pontos de referência para se agarrar em meio àquela areia movediça.
Tinha certeza de que dali a alguns dias acabaria rasgando todas essas folhas, e se sentiria aliviado com isso. Até lá, porém, as deixaria sobre a escrivaninha. Uma última leitura talvez pudesse levá-lo a descobrir algum sinal escondido que o colocaria na pista de Annie Astrand.
Precisava encontrar o envelope que ela enviara para ele, anos atrás, com as fotografias. No dia em que o recebeu, ele consultou a lista telefônica de endereços. No número 18 da rua Alfred-Dehodencq, nada de Annie Astrand. E, como ela não lhe mandara o número do telefone, só lhe restava escrever... Receberia, porém, alguma resposta?
Nessa noite, no escritório, tudo isso lhe parecia muito distante... A virada de século já completara dez anos... E, no entanto, ao entrar em uma rua, ao cruzar com um rosto – muitas vezes bastava até mesmo uma palavra extraída de uma conversa qualquer ou uma nota musical –, o nome, Annie Astrand, retornava na memória. Mas isso ocorria de forma cada vez menos frequente e cada vez mais rápida, como um sinal luminoso que se apagava imediatamente.
Hesitara em lhe escrever ou enviar um telegrama. Rua Alfred-Dehodencq. FAVOR MANDAR NUMERO TELEFONE. JEAN. Ou uma mensagem por correio pneumático, como ainda se fazia naquela época. Por fim, decidiu ir até aquele endereço, justamente ele, que não gostava de visitas imprevistas nem dessas pessoas que nos abordam na rua de maneira abrupta.
Era outono, o Dia de Todos os Santos. Uma tarde de sol. Pela primeira vez na vida, a expressão “Todos os Santos” não provocava nele um sentimento de tristeza. Pegou o metrô na Place Blanche. Precisava fazer duas transferências. Na Étoile e na Trocadéro. Aos domingos e nos feriados, os trens demoram mais para chegar, mas ele dizia a si mesmo que somente em um feriado é que conseguiria rever Annie Astrand. Contava os anos. Eram quinze, desde aquela tarde em que ela o levara à loja da cabine fotográfica. Lembrava-se de uma manhã, na estação de Lyon. Os dois tinham embarcado em um trem, um trem lotado por conta do primeiro dia das férias de verão.
Aguardando o trem do metrô na estação Trocadéro, foi tomado por uma dúvida: talvez nesse dia ela nem estivesse em Paris. E, passados quinze anos, ele não a reconheceria.
A rua terminava em uma grade. Atrás dela, as árvores da praça de Ranelagh. Nenhum carro estacionado ao longo das calçadas. Silêncio. Seria possível pensar até que ninguém morava por ali. O número 18 era o último, bem ao fundo, à direita, antes da grade e das árvores. Um prédio branco, ou melhor, um casarão, de dois andares. Na porta de entrada, um interfone. Ao lado do único botão disponível, um nome: VINCENT.
O imóvel lhe pareceu tão abandonado como a rua. Apertou o botão. Ouviu um chiado vindo do interfone, bem como um som que poderia ser do barulho do vento entre a folhagem. Inclinou-se e disse duas vezes, destacando sílaba por sílaba: JEAN DARAGANE. Uma voz feminina meio abafada pelo barulho do vento respondeu: “Primeiro andar.”
A porta de vidro abriu-se lentamente. Adentrou um hall de paredes brancas iluminadas por uma luminária. Não pegou o elevador; subiu pelas escadas, que formavam um cotovelo. Ao atingir o andar, ela já estava na fresta da porta entreaberta, o rosto coberto pela metade. Em seguida, soltou o ferrolho e fitou-o com o olhar de quem está com dificuldade para reconhecer o visitante.
– Entre, meu pequeno Jean.
Uma voz tímida, mas meio rouca, a mesma de quinze anos antes. Tampouco o rosto e o olhar haviam mudado. Os cabelos estavam mais compridos. Caíam-lhe até os ombros. Que idade teria agora? Trinta e seis anos? No vestíbulo de entrada, ainda o olhava com curiosidade. Ele buscava algo para lhe dizer:
– Não sabia que precisaria apertar o botão onde está escrito Vincent...
– Sim, agora eu me chamo Vincent. Troquei até o nome, veja você. Agnès Vincent.
Conduziu-o ao cômodo vizinho, que devia fazer as vezes de sala de estar, mas continha apenas um sofá e, ao lado dele, um abajur de pé. Uma grande porta de vidro permitia-lhe ver algumas árvores que não tinham perdido as folhas. Ainda era dia. Reflexos do sol no piso de madeira e nas paredes.
– Sente-se, meu pequeno Jean.
Ela ocupou o outro canto do sofá, como que para observá-lo melhor.
– Você se lembra de Roger Vincent?
Mal acabara de pronunciar esse nome, ele recordou-se, com efeito, de um automóvel conversível americano estacionado na frente da casa de Saint-Leu-la-Forêt, ao volante do qual estava um homem que ele também tomara, à primeira vista, por americano, dada a sua altura acima da média e um ligeiro sotaque ao falar.
– Casei-me, há alguns anos, com Roger Vincent.
Fitava-o com um sorriso embaraçado. Seria para que ele lhe perdoasse aquele casamento?
– Fica cada vez menos em Paris... Acho que ele ficaria feliz por rever você. Telefonei-lhe outro dia e contei que você tinha escrito um livro.
Certa tarde, em Saint-Leu-la-Forêt, Roger Vincent fora buscá-lo à saída da escola com seu carro conversível americano. Este deslizava pela rua de Ermitage sem fazer nenhum barulho com o motor.
– Ainda não li seu livro até o fim... Dei de cara com o trecho da loja da cabine fotográfica... Sabe, eu não leio romances...
Parecia se desculpar, como fizera pouco antes, ao contar do casamento com Roger Vincent. Não, não, agora que ambos estavam juntos, sentados ali naquele sofá, ela não precisava ler o livro “até o fim”.
– Você deve ter se perguntado como eu fiz para conseguir seu endereço... Encontrei uma pessoa que levou você até a sua casa no ano passado...
Ela franziu as sobrancelhas, parecendo buscar um nome. Mas o próprio Daragane o encontrou:
– Guy Torstel?
– Sim... Guy Torstel.
Por que pessoas que você nem imaginava existirem, com quem cruzou uma vez e nunca mais irá rever, cumprem, nos bastidores, um papel importante na sua vida? Pois graças a esse sujeito ele conseguira reencontrar Annie. Queria poder agradecer ao tal Torstel.
– Tinha esquecido completamente esse homem. Deve morar aqui pelo bairro. Ele me abordou na rua... Disse que tinha estado na casa de Saint-Leu-la-Forêt quinze anos atrás.
Certamente fora o encontro no hipódromo, no outono anterior, que refrescara a memória de Torstel. Este mencionara a casa de Saint-Leu-la-Forêt. Naquela ocasião, quando Torstel disse “Já não lembro qual era esse lugar nos arredores de Paris” e “Suponho que o menino fosse você”, ele, Daragane, não quis responder. Fazia muito tempo que já não pensava em Annie Astrand ou na casa de Saint-Leu-la-Forêt. No entanto, esse reencontro reavivou subitamente lembranças que ele tomava cuidado, sem ter consciência clara disso, para não despertar. Mas, pronto, a coisa estava feita. E eram muito persistentes essas lembranças. Por isso foi que na mesma noite começou a escrever seu livro.
– Ele disse que encontrou você em um hipódromo...
Ela sorria, como se se tratasse de uma brincadeira.
– Espero que você não tenha se tornado um jogador...
– Não, de jeito nenhum.
Ele, jogador? Jamais conseguira entender como era possível que aquelas pessoas, nos cassinos, passassem tanto tempo em volta das mesas, silenciosas, inertes, com sua cara de morto-vivo. E, toda vez que Paul lhe falava de apostas, tinha dificuldade para prestar atenção.
– Jogadores... Isso sempre acaba mal, meu pequeno Jean.
Devia conhecer muito bem o assunto. Costumava voltar tarde da noite para casa, em Saint-Leu-la-Forêt, enquanto ele, Daragane, muitas vezes não conseguia adormecer enquanto ela não chegasse. Que alívio ele sentia ao escutar o barulho dos pneus do carro sobre o cascalho e o do motor quando se desligava. E o de seus passos no corredor... O que ela fazia em Paris até as duas horas da madrugada? Talvez jogasse. Depois de todos esses anos, e agora que ele já não era criança, bem que gostaria de lhe fazer essa pergunta.
– Não entendi bem o que esse senhor Torstel faz... Acho que tem um antiquário no Palais Royal.
Aparentemente, não sabia muito bem o que lhe dizer. Ele gostaria de deixá-la à vontade, e ela devia sentir a mesma coisa, como se houvesse entre os dois a presença de uma sombra sobre a qual nenhum deles podia falar.
– Então, você se tornou um escritor?
Sorriu-lhe, e esse sorriso pareceu irônico para ele. Escritor. Por que não lhe confessar que tinha escrito No escuro do verão como se fosse não um livro, mas um aviso de busca? Com um pouco de sorte, a obra chamaria a atenção dela, que lhe daria, então, um sinal de vida. Era assim que ele tinha raciocinado. Nada além disso.
A tarde caía, mas ela não acendia o abajur ao lado do sofá.
– Devia ter procurado você antes, mas tive uma vida um tanto agitada...
Usara o verbo no passado, como se sua vida já tivesse chegado ao fim.
– Não me surpreende que tenha se tornado escritor. Quando era pequeno, em Saint-Leu-la-Forêt, você lia muito.
Daragane preferia que ela falasse da sua vida, não da dele. Mas, aparentemente, ela não queria fazer isso. Mantinha-se no sofá, de perfil. Veio-lhe então à lembrança uma imagem que, apesar de todos aqueles anos perdidos, guardava uma grande nitidez. Certa tarde, Annie estava na mesma posição de agora, o tronco ereto, de perfil, sentada ao volante de seu automóvel, e ele, criança, ao lado. O carro estava estacionado diante do portão da casa, em Saint-Leu-la-Forêt. Ele notou uma lágrima, quase imperceptível, a lhe escorrer pela face direita. Ela fez um gesto brusco com o cotovelo para enxugá-la e depois ligou o motor, como se nada tivesse acontecido.
– No ano passado – disse Daragane –, encontrei outra pessoa que disse ter conhecido você... na época de Saint-Leu-la-Forêt...
Ela se voltou para ele com um olhar inquieto.
– Quem?
– Um tal de Jacques Perrin de Lara.
– Não sei quem pode ser... Cruzei com tantas pessoas na época de Saint-Leu-la-Forêt...
– E Bob Bugnand? Esse nome lhe diz alguma coisa?
– Não. Nada.
Ela se aproximou e lhe acariciou a testa.
– O que está passando dentro dessa cabeça, meu pequeno Jean? Quer me fazer um interrogatório?
Fitava-o diretamente nos olhos. Não havia nenhuma ameaça nesse olhar – apenas preocupação. Acariciou-lhe mais uma vez a testa.
– Sabe, eu não tenho memória...
Lembrou-se das palavras de Perrin de Lara: “A única coisa que posso lhe dizer é que ela esteve presa.” Se lhe repetisse isso agora, ela se mostraria muito surpresa. Ergueria os ombros e responderia: “Ele deve ter me confundido com outra mulher.” Ou então: “E você acreditou nisso, meu pequeno Jean?” E talvez fosse sincera. Acabamos sempre por esquecer os detalhes incômodos ou muito dolorosos de nossas vidas. Basta boiar de costas e se deixar levar suavemente pelas águas profundas, de olhos fechados. Não, nem sempre se trata de um esquecimento voluntário, explicou-lhe certa vez um médico com quem conversara em um café sob os blocos de edifícios da praça de Graisivaudan. Esse homem, aliás, o presenteara com um exemplar autografado de um livro que havia publicado pela Presses Universitaires de France intitulado O esquecimento.
– Quer que eu explique por que levei você naquele dia para fazer as fotografias?
Daragane sentiu que não era com nenhuma alegria que ela tocava no assunto. Mas a noite estava chegando e a penumbra, naquela sala, poderia facilitar o caminho para as confidências.
– É muito simples. Na ausência de seus pais, eu queria levar você comigo para a Itália. Para isso, você precisava ter um passaporte.
Na maleta amarela de papel machê que havia alguns anos ele carregava de quarto em quarto contendo seus cadernos escolares, boletins, cartões-postais recebidos na infância e livros que lia naquela época – Árvore, minha amiga, O cargueiro secreto, O cavalo sem cabeça, As mil e uma noites – talvez estivesse também um velho passaporte, daqueles de capa azul-marinho, com seu nome e a tal fotografia. Mas ele nunca abrira aquela maleta. Estava trancada à chave – uma chave que ele tinha perdido, como o passaporte, provavelmente, também.
– Não consegui levar você para a Itália... Tive de ficar na França... Passamos alguns dias na Côte d’Azur... E depois você voltou para sua casa.
O pai viera buscá-lo numa casa vazia, e ambos pegaram o trem de volta para Paris. O que ela queria dizer exatamente com “sua casa”? Por mais que cavoucasse na memória, não lhe vinha à mente a menor lembrança daquilo que em linguagem comum se chama “minha casa”. O trem chegara à estação de Lyon pela manhã, bem cedo. Depois, seguiram-se longos e intermináveis anos de pensionato.
– Quando li aquele trecho do seu livro, vasculhei em meus documentos e encontrei as fotografias.
Daragane teve de esperar mais quarenta anos para conhecer outro detalhe daquela aventura: as fotografias de um “menino não identificado” recolhidas durante uma revista no posto de fronteira de Vintimille. “A única coisa que eu sei sobre essa mulher”, dissera Perrin de Lara, “é que ela esteve presa.” Então, certamente, quando ela deixou a prisão, devem ter-lhe devolvido as fotografias e outros documentos apreendidos. Mas ali, naquele sofá, ao lado dela, Daragane ainda desconhecia esse detalhe. Frequentemente, só ficamos sabendo de um episódio de nossa vida que alguém próximo escondeu de nós quando já é tarde demais para esse alguém falar sobre ele. Mas será que esse alguém realmente o escondeu de nós? Talvez o tenha esquecido, ou, com o passar do tempo, já não pense nele. Ou ainda simplesmente não encontre as palavras para relatá-lo.
– É uma pena que não tenhamos conseguido ir para a Itália – disse Daragane, com um sorriso largo.
Sentiu que ela queria lhe fazer alguma confidência. Mas ela chocalhou a cabeça levemente, como se quisesse afastar maus pensamentos – ou más recordações.
– Você ainda mora na praça de Graisivaudan?
– Na verdade, não. Encontrei um quarto para alugar em outro bairro.
Ficara com a chave do quartinho da praça de Graisivaudan, cujo proprietário estava fora de Paris. Às vezes, entrava ali escondido. A possibilidade de se alojar em dois lugares diferentes o deixava mais seguro.
– Um quarto ao lado da Place Blanche.
– Place Blanche?
O nome parecia evocar, nela, uma paisagem familiar.
– Vai me mostrar um dia a sua casa?
Era quase noite. Ela finalmente acendeu o abajur. Agora os dois estavam no centro de um halo luminoso, com o restante da sala às escuras.
– Conheço bem a área da Place Blanche. Lembra-se de meu irmão Pierre? Ele tinha um estacionamento lá...
Um jovem moreno. Às vezes dormia em um quartinho na casa de Saint-Leu-la-Forêt, à esquerda, no fundo do corredor. Um quartinho cuja janela dava para o pátio e para os poços. Daragane se lembrava de seu casacão e de seu carro, um Renault quatro cavalos. Em um domingo, esse irmão de Annie – tanto tempo se passara que tinha esquecido seu nome – o levara ao Circo Médrano. E voltaram no seu quatro cavalos para Saint-Leu-la-Forêt.
– Desde que moro aqui, nunca mais o vi...
– É um lugar estranho – disse Daragane, virando o rosto para a porta de vidro, transformada agora numa grande tela negra por trás da qual já não se podia ver as copas das árvores.
– Estamos no fim do mundo, meu pequeno Jean. Não acha?
Pouco antes, ele se surpreendera com o silêncio da rua e com a grade, ao final dela, que a tornava, na verdade, uma rua sem saída. Ao cair da noite, podia-se imaginar o prédio como estando no limite de uma floresta.
– Roger Vincent aluga essa casa desde a guerra... Ela estava embargada. Pertencia a pessoas que tinham tido de deixar a França... Você sabe, com Roger Vincent as coisas são sempre meio complicadas.
Ela o chamava de “Roger Vincent”, jamais de “Roger”, simplesmente. Ele, Daragane, também fazia assim na infância, cumprimentando-o com um “bom dia, senhor Roger Vincent”.
– Não poderei continuar aqui. Eles vão alugar a casa para alguma embaixada, ou então demoli-la. Às vezes, à noite, tenho medo de ficar sozinha... O térreo e o segundo andar estão desocupados. E Roger Vincent quase nunca está aqui.
Ela preferia lhe falar do presente, e Daragane compreendia isso perfeitamente. Perguntava-se se essa mulher era realmente a mesma que ele havia conhecido, criança, em Saint-Leu-la-Forêt. E ele? Quem era? Agora, quarenta anos depois daquele momento, quando a ampliação da fotografia de identidade chegaria a suas mãos, nem sequer se daria conta de que aquela criança era ele.
Mais tarde, ela quis levá-lo para jantar, pertinho de casa. Acabaram no fundo da sala de uma cervejaria na rua da Muette, um de frente para o outro.
– Lembro-me de termos ido alguns vezes, nós dois, a um restaurante em Saint-Leu-la-Forêt – disse Daragane.
– Tem certeza?
– O restaurante se chamava Chalé do Ermitage.
Esse nome ficara marcado em sua mente na infância por ser o mesmo da rua.
Ela ergueu os ombros.
– Esquisito... Eu jamais levaria uma criança a um restaurante – disse ela num tom severo, que surpreendeu Daragane.
– Você ficou morando depois muito tempo na casa de Saint-Leu-la-Forêt?
– Não. Roger Vincent a vendeu. Você sabe, aquela casa era de Roger Vincent.
Ele sempre acreditara que a casa fosse de Annie Astrand, nome e sobrenome que na época lhe pareciam colados um ao outro: Annieastrand.
– Eu fiquei lá por mais ou menos um ano, não foi?
Fez a pergunta com relutância, como se temesse que ela ficasse sem resposta.
– Sim... um ano... não sei mais... Sua mãe queria que você respirasse o ar da montanha... Minha sensação era de que ela procurava se livrar de você.
– Como vocês se conheceram?
– Bem, foi por amigos... Eu encontrava tantas pessoas naquela época...
Daragane compreendeu que ela não lhe contaria muitas coisas sobre aquele período de Saint-Leu-la-Forêt. Teria de se contentar com suas próprias recordações, poucas e frágeis recordações de cuja exatidão ele próprio já não tinha certeza, já que ela acabara de dizer, por exemplo, que jamais teria levado uma criança a um restaurante.
– Desculpe-me, meu pequeno Jean... Quase nunca penso no passado.
Hesitou por um instante.
– Passei por momentos difíceis naquele tempo... Você se lembra da Colette?
Esse nome despertou nele uma vaga reminiscência, tão inatingível como um reflexo que passa veloz por uma parede e logo desaparece.
– Colette... Colette Laurent. Havia um retrato dela no meu quarto em Saint-Leu-la-Forêt. Ela tinha posado para alguns pintores... Era uma amiga minha de adolescência.
Ele se lembrava muito bem daquele quadro exposto entre as duas janelas. Uma jovem apoiada numa mesa com um cotovelo, o queixo na palma da mão.
– Foi assassinada em um hotel, em Paris... Nunca se soube o autor... Costumava frequentar Saint-Leu-la-Forêt.
Quando Annie voltava de Paris, por volta das duas horas da manhã, ele ouvia, no corredor, várias vezes, algumas gargalhadas. Isso significava que ela não estava só. Depois, a porta do quarto se fechava, e murmúrios lhe chegavam através das paredes. Certa manhã, eles foram a Paris com a tal Colette Laurent, no carro de Annie. Ela estava sentada no banco da frente, ao lado de Annie, e ele sozinho no banco de trás. Passearam no jardim dos Champs-Elysées, onde se realiza a feira de selos. Pararam diante de uma barraca, e Colette Laurent o presenteou com um estojo de selos, uma série, em diversas cores, com o rosto do rei do Egito. Foi a partir desse dia que ele começou a colecionar selos. Pode ser que o álbum em que passou a organizá-los sob as folhas de papel de seda estivesse na maleta amarela de papel machê. Fazia dez anos que não abria a maleta. Não podia separar-se dela, mas se sentia aliviado, mesmo assim, por ter perdido a sua chave.
Em outro dia, também na companhia de Colette Laurent, visitaram uma pequena cidade do outro lado da floresta de Montmorency. Annie estacionou o carro na frente de uma espécie de pequeno castelo, e ela lhe contou que ali ficava o pensionato onde ela e Collete Laurent tinham se conhecido. Visitaram com ele o pensionato, guiadas pela diretora. As salas de aula e os dormitórios estavam vazios.
– Então, você não se lembra de Colette?
– Sim... claro – disse Daragane. – Vocês se conheceram em um pensionato.
Ela o fitou surpresa.
– Como sabe disso?
– Você me levou, uma tarde, para conhecer esse pensionato.
– Tem certeza? Não me lembro disso.
– Ficava no outro lado da floresta de Montmorency.
– Nunca levei você ali com Colette.
Não quis desmenti-la. Talvez pudesse encontrar alguma explicação naquele livro que o médico lhe autografara, aquele pequeno livro de capa branca sobre o esquecimento.
Caminhavam agora ao longo da aleia, em torno da praça de Renelagh. O escuro da noite, as árvores e a presença de Annie, que segurava um de seus braços, trouxeram-lhe a sensação de estar passeando com ela como antigamente, na floresta de Montmorency. Ela tinha estacionado o veículo em uma encruzilhada, e ambos seguiram a pé até o lago de Fossombrone. Recorda-se dos nomes: encruzilhada do Chêne aux Mouches. Encruzilhada da Pointe. Um dos nomes o fazia tremer de medo: cruz do príncipe de Condé. Na pequena escola onde ela o matriculara e aonde ia frequentemente para buscá-lo às quatro e meia da tarde, a professora tinha falado desse príncipe, que fora encontrado pendurado com uma corda no pescoço em seu quarto do castelo de Saint-Leu, sem que jamais tivessem sido esclarecidas as circunstâncias de sua morte. Ela o chamava de “o último dos Condés”.
– Em que está pensando, meu pequeno Jean?
Apoiava a cabeça no seu ombro, e Daragane sentiu vontade de dizer que estava pensando no “último dos Condés”, na escola e nos passeios pela floresta. Mas temeu que ela mais uma vez lhe respondesse: “Não... você está enganado... Não me lembro de nada disso.” Ele também, naqueles últimos quinze anos, acabara por esquecer-se de tudo.
– Você precisa me mostrar onde mora agora... Adoraria passear pelo bairro da Place Blanche com você.
Será que ela não se lembrava de que estivera com ele por alguns dias naquele bairro antes da partida de trem para o Midi? Mais uma vez, porém, não se atreveu a fazer-lhe a pergunta.
– Você vai achar o meu quarto pequeno demais – disse Daragane. – Além disso, não tem aquecimento.
– Não importa. Você não imagina como eu e meu irmão, Pierre, tremíamos de frio no inverno nesse bairro quando éramos jovens.
Ao menos essa lembrança não lhe era dolorida, já que riu bastante ao mencioná-la.
Chegaram ao fim da aleia, perto da Porta da Muette. Ele se perguntou se aquele aroma de outono, de folhas e de terra úmida não provinha do bosque de Boulogne. Ou até, através do tempo, da floresta de Montmorency.
Fizeram um contorno para chegar ao que ela chamava, com leve tom de ironia, de seu “domicílio”. À medida que caminhavam, ele se sentia tomado por uma leve amnésia. Chegou a se perguntar quanto tempo fazia que estava em companhia daquela desconhecida. Talvez tivesse acabado de conhecê-la, na aleia do parque ou na frente de um daqueles prédios de fachadas escuras. E, se ele por acaso notava alguma luz, era sempre na janela de algum último andar, como se alguém tivesse partido havia muito tempo esquecendo-se de apagar a luz.
Ela apertou-lhe o braço. Como se quisesse ter certeza de sua presença.
– Sempre que volto para casa a pé a esta hora, sinto medo... Já não sei onde estou exatamente.
E era verdade: atravessava-se ali um no man’s land, ou, melhor ainda, uma zona neutra em que nos sentimos isolados de tudo.
– Se você precisa comprar um maço de cigarros ou encontrar uma farmácia aberta à noite... Imagine... Aqui isso é muito difícil.
Mais uma gargalhada. E sua risada, junto com o barulho de seus passos, ressoavam naquelas ruas – uma das quais levava o nome de um escritor totalmente esquecido.
Tirou do bolso do sobretudo um molho de chaves e experimentou várias delas na fechadura da porta de entrada até encontrar a certa.
– Jean, você pode me acompanhar até lá em cima? Tenho medo dos fantasmas...
Estavam na entrada de piso branco e preto. Ela abriu uma porta dupla.
– Quer que eu lhe mostre o térreo?
Uma sequência de cômodos vazios. Paredes de madeira clara e grandes portas de vidro. Uma iluminação branca provinha de luminárias incrustadas nas paredes, bem perto do teto.
– Aqui deviam ser a sala de estar, a copa e a biblioteca... Houve uma época em que Roger Vincent armazenava mercadorias aqui.
Fechou a porta, pegou-o pelo braço e conduziu-o até a escadaria.
– Quer conhecer o segundo andar?
Abriu de novo uma porta e acendeu a luz que saía das mesmas luminárias de parede quase na altura do teto. Um cômodo vazio, como os do térreo. Fez deslizar um dos lados da porta onde havia uma rachadura no vidro. Um grande terraço se abriu, dando sobre as árvores do jardim.
– Era a sala de ginástica do antigo proprietário... Aquele que morava aqui antes da guerra.
Daragane observou vários buracos no piso, um piso que lhe pareceu ter consistência de cortiça. Na parede estava afixado um móvel de madeira com fendas que sustentavam pequenos halteres.
– Há muitos fantasmas aqui... nunca venho aqui sozinha.
No primeiro andar, diante da porta, ela colocou a mão sobre o ombro dele.
– Jean, você pode ficar aqui comigo esta noite?
Conduziu-o pelo cômodo que fazia as vezes de sala de estar. Não acendeu a luz. No sofá, inclinou-se para murmurar a seu ouvido:
– Você vai me acolher no seu quarto da Place Blanche quando eu tiver de sair daqui?
Acariciou-lhe a testa. E de novo em voz baixa:
– Faça como se a gente não se conhecesse de antes. É fácil...
Sim, afinal de contas era fácil, já que ela tinha dito que trocara o sobrenome, e até o nome.
Por volta de onze da noite o telefone no escritório tocou, mas ele não atendeu, esperando que deixassem algum recado na secretária eletrônica. Uma respiração inicialmente regular e depois cada vez mais entrecortada, e uma voz distante que não conseguia distinguir se era de homem ou de mulher. Um gemido. Depois, a volta da respiração, e duas vozes misturadas cochichando palavras que ele não conseguia identificar. Desligou a secretária e desconectou o cabo do telefone. Quem seria? Chantal Grippay? Gilles Ottolini? Os dois juntos?
Decidiu, por fim, aproveitar o silêncio da noite para reler, por uma última vez, todas as páginas do “dossiê”. Mal começou a leitura, porém, teve uma sensação desagradável: as frases se encavalavam, enquanto outras frases surgiam subitamente, encobrindo as anteriores, desaparecendo em seguida sem lhe dar tempo para decifrá-las. Estava diante de um palimpsesto em que todas as sucessivas inscrições se misturavam e se moviam como bacilos vistos em um microscópio. Atribuiu o fenômeno ao cansaço, e fechou os olhos.
Ao reabri-los, viu-se diante da fotocópia do trecho de No escuro do verão em que aparecia o nome de Guy Torstel. À parte o episódio da cabine fotográfica – episódio que ele extraíra da vida real –, não tinha nenhuma lembrança de seu primeiro livro. A única que ainda guardava na cabeça era a das primeiras vinte páginas que ele mesmo excluiria mais tarde. Até desistir delas, essas páginas haviam sido, em sua mente, o começo do livro. Criara até um título para esse primeiro capítulo: “Retorno a Saint-Leu-la-Forêt.” Estariam essas vinte páginas enterradas para sempre em alguma caixa de papelão ou em alguma mala antiga? Ou ele as rasgara? Já não sabia.
Antes de escrevê-las, sentira necessidade de, passados quinze anos, ir por uma última vez a Saint-Leu-la-Forêt. Não se tratava de uma peregrinação, mas de uma visita que o ajudaria a escrever o começo do livro. E meses depois, na noite em que esteve com ela já depois do lançamento do livro, nada comentou com Annie Astrand sobre esse “retorno a Saint-Leu-la-Forêt”. Teve medo de que dissesse, erguendo os ombros: “Mas que ideia esquisita essa de voltar lá, meu pequeno Jean...”
Certa tarde, então, alguns dias depois de conhecer Torstel no hipódromo, ele pegara um ônibus na Porta de Asnières. O subúrbio já estava bastante mudado nessa época. O itinerário seria o mesmo que Annie Astrand percorria ao voltar de carro de Paris? O ônibus passava sob a via férrea perto da estação de Ermont. E, no entanto, mais de quarenta anos depois, ele agora se perguntava se esse passeio não fora, na verdade, um sonho. Provavelmente essa confusão derivasse do fato de ter feito desse percurso objeto de um capítulo de um romance. Subira de volta a avenida de Saint-Leu e atravessara a praça da fonte... Pairava no ar uma névoa amarelada que ele supunha vir da floresta. Na rua do Ermitage, teve certeza de que a maioria das casas ainda não tinha sido construída na época de Annie Astrand; em vez delas, havia árvores dos dois lados, cujas copas, ao se encontrarem, formavam uma espécie de abóbada. Estaria mesmo em Saint-Leu? Acreditou reconhecer a parte da casa que dava para a rua e o grande alpendre sob o qual muitas vezes Annie estacionava o carro. O muro que havia mais adiante, porém, tinha desaparecido, dando lugar a uma construção comprida de concreto.
Na frente, protegida por uma grade, um sobrado com uma bow-window e a fachada coberta por hera. Na grade, uma placa: “Dr. Louis Voustraat”. Ele se lembrou de uma manhã em que Annie o levara depois da aula a esse médico e também que esse mesmo médico viera visitá-lo uma noite em casa, no seu quarto, quando estava doente.
Hesitou por alguns instantes no meio da rua. Decidido, empurrou o portão que dava para um pequeno jardim e subiu os degraus da entrada da casa. Tocou a campainha e aguardou. Na fresta da porta entreaberta viu um homem alto, de cabelos brancos e curtos, olhos azuis. Não o reconheceu.
– Dr. Voustraat?
Este fez um movimento de surpresa, como se Daragane acabasse de tirá-lo de um sono profundo.
– Hoje não dou consultas...
– Queria apenas falar com o senhor.
– Sobre o quê, meu senhor?
Nenhuma desconfiança havia nessa pergunta. O tom era amável, e o timbre da voz tinha algo de tranquilizador.
– Estou escrevendo um livro sobre Saint-Leu-la-Forêt. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas.
Daragane estava tão intimidado que lhe pareceu ter gaguejado ao pronunciar essa frase. O homem o recebeu com um sorriso:
– Pode entrar, senhor.
Conduziu-o a uma sala onde ardia o fogo de uma lareira e indicou-lhe uma poltrona de frente para a bow-window. Sentou-se depois ao lado dele, numa poltrona parecida com a outra, forrada com o mesmo tecido escocês.
– Quem lhe deu a ideia de me procurar?
Sua voz era tão grave e tão suave que seria capaz de arrancar em pouco tempo a confissão do mais astuto e endurecido dos criminosos. Foi ao menos o que passou pela cabeça de Daragane.
– Vi a sua placa ao passar pela rua. E pensei que um médico sempre conhece bem o local onde atua...
Esforçou-se para falar de forma clara, apesar do desconforto que sentia, e optou pela palavra “local” em vez de “aldeia”, que lhe viria de início naturalmente à cabeça. Pois Saint-Leu-la-Forêt já não era a “aldeia” da sua infância.
– Pois o senhor acertou. Atuo aqui há vinte e cinco anos.
Ergueu-se e se dirigiu a uma estante na qual Daragane viu uma caixa com licores.
– Quer beber alguma coisa? Um pouco de Porto?
Deu um copo a Daragane e voltou para o seu lugar, ao lado dele, na poltrona de tecido escocês.
– Então o senhor está escrevendo um livro sobre Saint-Leu-la-Forêt... Que boa ideia!
– Bem... é uma brochura, para uma coleção sobre várias localidades da Île-de-France...
Buscava mencionar mais detalhes para ganhar a confiança do dr. Voustraat.
– Dedico um capítulo inteiro à morte misteriosa do último príncipe Condé, por exemplo.
– Vejo que o senhor conhece bem a história da nossa pequena cidade.
O dr. Voustraat fitava-o com seus olhos azuis, sorrindo, tal como fizera quinze anos antes, ao lhe auscultar o corpo no quarto da casa em frente. Tinha sido por causa de uma gripe ou por uma dessas doenças infantis de nome tão complicado?
– Preciso de informações que não sejam meramente registros históricos. Casos sobre alguns moradores da cidade, por exemplo – disse Daragane, espantando-se consigo próprio por ter conseguido pronunciar até o fim e com segurança uma frase tão longa.
O dr. Voustraat parecia pensativo, os olhos fixos numa acha que se consumia lentamente na lareira.
– Tivemos alguns artistas aqui em Saint-Leu-la-Forêt – disse ele, balançando a cabeça, com se refrescasse a memória. – A pianista Wanda Landowska... Também o poeta Olivier Larronde.
– Posso anotar os nomes? – perguntou Daragane.
Tirou de um bolso do paletó uma esferográfica e o caderno de anotações preto que trazia sempre consigo desde que começara a escrever o livro. Anotava ali pedaços de frases ou títulos possíveis para o seu romance. Com bastante zelo, escreveu em letras maiúsculas: WANDA LANDOWSKA. OLIVIER LARRONDE. Queria mostrar ao dr. Voustraat que tinha hábitos de estudioso.
– Obrigado pelas informações.
– Outros nomes certamente me ocorrerão...
– É muita gentileza sua – disse Daragane. – Por acaso o senhor se recorda de algum caso policial que tenha acontecido em Saint-Leu-la-Forêt?
– Caso policial?
Aparentemente a expressão pegou o dr. Voustraat de surpresa.
– Não um crime, é claro, mas alguma coisa suspeita que tenha ocorrido aqui... Falaram-me de uma casa, bem aqui, na frente da sua, onde viviam pessoas esquisitas...
Pronto. Chegava à questão central de uma forma mais rápida do que ele mesmo tinha previsto.
O dr. Voustraat fitou-o novamente com seus olhos azuis, em que Daragane sentia se manifestar agora certa desconfiança.
– Qual casa da frente?
Ficou em dúvida se não teria ido longe demais. Mas por quê? Não tinha ele o aspecto de um jovem bem-educado que simplesmente pretendia escrever uma brochura sobre Saint-Leu-la-Forêt?
– A casa que fica um pouco à direita, com aquele alpendre grande...
– Está falando do leprosário?
Daragane tinha se esquecido desse nome, que lhe provocava uma pontada no coração. Teve a sensação fugidia de passar sob o alpendre da casa.
– Isso mesmo... O leprosário – e, ao pronunciar essas sílabas, sentiu uma espécie de mal-estar, ou, mais do que isso, de medo, como se o leprosário estivesse ligado, para ele, a um pesadelo.
– Quem lhe falou do leprosário?
Foi pego no pulo. Teria sido melhor dizer toda a verdade ao dr. Voustraat. Agora era tarde demais. Deveria tê-lo feito antes, ainda na escadaria da casa. “O senhor cuidou de mim muito tempo atrás, quando eu era criança.” Não, não, ele se sentiria um impostor a roubar a identidade de outra pessoa. Pois aquela criança, hoje, lhe parecia um ser estranho.
– O dono do restaurante Ermitage.
Disse isso completamente ao acaso, para não deixar a pergunta no ar. Será que esse estabelecimento ainda existia? Pior: teria existido de verdade ou apenas em suas lembranças?
– Ah, sim, o restaurante Ermitage. Pensei que ele já não se chamasse assim hoje em dia... Faz muito tempo que o senhor conhece Saint-Leu?
Daragane sentiu uma vertigem, dessas que tomam conta do corpo quando estamos à beira de fazer uma confissão que mudará o curso de nossa vida. Ali, no ponto mais elevado, basta se deixar levar para baixo, como num escorregador. Ao fundo do grande jardim do leprosário havia, justamente, um escorregador, instalado provavelmente pelos antigos proprietários e cuja rampa estava enferrujada.
– Não. É a primeira vez que venho a Saint-Leu-la-Forêt.
A noite caía lá fora. O dr. Voustraat se levantou para acender a luz e atiçar o fogo.
– Parece inverno. O senhor viu a neblina que havia? Ainda bem que acendi a lareira...
Sentou-se de volta na poltrona e se inclinou para Daragane.
– O senhor teve sorte de bater à minha porta justamente hoje. É meu dia de folga. E devo dizer também que tenho reduzido muito a quantidade de visitas em domicílio.
A palavra “visitas” seria uma indireta para fazê-lo entender que o doutor o havia reconhecido? Mas se tinham feito tantas visitas em domicílio naqueles últimos quinze anos, e muitas consultas no pequeno cômodo ao fundo do corredor que fazia as vezes de consultório do dr. Louis Voustraat, que não havia como ele reconhecer todos os rostos. Além disso, raciocinou Daragane, como estabelecer qualquer semelhança entre aquele menino e ele próprio na atualidade?
– É verdade... No leprosário viviam pessoas realmente muito esquisitas. Mas acha que seria realmente útil eu lhe falar disso?
Daragane sentiu que essas palavras anódinas escondiam outras por trás. Como no rádio, quando ocorre uma interferência e duas vozes se sobrepõem. Pareceu-lhe ter ouvido também: “Por que o senhor voltou a Saint-Leu depois de quinze anos?”
– Essa casa parece até que foi amaldiçoada... Talvez por causa do nome...
– O nome?
O dr. Voustraat sorriu.
– O senhor sabe o que significa “leprosário”?
– Claro que sim – disse Daragane.
Na verdade não sabia, mas teve vergonha de admiti-lo para o dr. Voustraat.
– Antes da guerra, vivia ali um médico, como eu, mas que deixou Saint-Leu... Depois, na mesma época em que eu cheguei aqui, um certo Lucien Führer começou a vir para cá regularmente... Era dono de uma casa noturna em Paris... Havia muito movimento... e foi a partir de então que a casa passou a ser frequentada por pessoas bem esquisitas... até o fim dos anos 50...
Daragane anotava as palavras do médico, uma a uma, em seu caderno. Era como se ele fosse lhe revelando o segredo de sua própria origem, tudo sobre aqueles anos do começo de sua vida que foram totalmente esquecidos – à exceção de um ou de outro detalhe que remonta por vezes das profundezas, como uma rua coberta por uma abóbada de folhas, um perfume, um nome familiar que já não se sabe a quem teria pertencido, um escorregador.
– Esse Julien Führer desapareceu de um dia para outro, e a casa foi comprada por um certo Vincent... Roger Vincent, se não me falha a memória... Tinha um carro americano conversível que sempre estacionava na rua.
Passados quinze anos, Daragane já não tinha certeza quanto à cor daquele carro. Bege? Sim, certamente. Com bancos de couro vermelho. O dr. Voustraat se lembrava de que era um conversível e, se não lhe falhasse a memória, também poderia confirmar a cor bege. Mas Daragane temia despertar-lhe alguma desconfiança caso fizesse a pergunta.
– Não saberia lhe dizer exatamente qual era a profissão desse senhor Roger Vincent... talvez fosse a mesma de Lucien Führer... Era um quarentão que vinha regularmente de Paris...
Naquele tempo, parecia a Daragane que Roger Vincent nunca ficava para dormir na casa. Passava o dia em Saint-Leu-la-Forêt e ia embora depois do jantar. De sua cama, ele ouvia o motor do carro ser ligado, um som diferente daquele do carro de Annie. Um barulho ao mesmo tempo mais forte e mais surdo.
– Dizia-se que ele era meio americano ou que tinha morado por muito tempo nos Estados Unidos... tinha jeito de americano... Robusto... um porte esportivo... Cheguei a atendê-lo um dia... acho que tinha tido uma luxação no punho...
Daragane não se lembrava de nada disso. Certamente teria ficado impactado se tivesse visto Roger Vincent portar um curativo ou um gesso.
– Também moravam lá uma jovem e uma criança... Ela não tinha idade para ser mãe dessa criança... Eu achava que fosse a irmã mais velha... Podia ser filha do tal Roger Vincent...
Filha de Roger Vincent? Não, essa ideia jamais lhe ocorrera. Nunca se questionara a respeito da exata relação que havia entre Roger Vincent e Annie. Deve-se saber, costumava dizer a si mesmo, que as crianças não se fazem perguntas. Muitos anos depois, procuramos solucionar certos enigmas que não existiam como tais naqueles momentos, ou então buscamos decifrar as letras já parcialmente apagadas de uma língua demasiadamente antiga de que ignoramos até o alfabeto.
– Era uma casa muito movimentada... Às vezes chegavam pessoas no meio da noite...
Naquela época, Daragane dormia bem – era o sono da infância –, à exceção das noites em que ficava à espreita, aguardando o retorno de Annie. Com frequência, ao longo da madrugada, ouvia a batida de portas de automóveis e vozes espalhadas, mas logo voltava a dormir. A casa era ampla, com diferentes edificações. Não podia saber quem estava por lá. De manhã, ao sair para ir à escola, notava alguns veículos estacionados na frente do alpendre. Na parte da casa onde ficava o seu quarto, ficava também o de Annie, do outro lado do corredor.
– Na sua opinião, quem eram essas pessoas? – perguntou ao dr. Vourstaat.
– Houve uma busca na casa, mas já tinham desaparecido com tudo... Fui interrogado, por ser o vizinho mais próximo. Aparentemente, esse Roger Vincent estava envolvido em um caso que foi chamado de “O Combinatie”. Li alguma coisa sobre esse nome em algum lugar, mas não saberia lhe dizer o que significa. Confesso que não sou muito interessado em casos policiais.
Será que Daragane gostaria mesmo de saber mais do que aquilo que o dr. Voustraat sabia? Um fiapo de luz que vemos com dificuldade sob uma porta fechada e que assinala a presença de alguém. Mas ele não tinha vontade de abrir a porta para descobrir quem estaria no quarto ou, provavelmente, no armário. Súbito lhe veio à mente uma expressão: “o cadáver no armário”. Não, ele não queria saber o que a palavra “combinatie” encobria. Desde a infância, tinha um pesadelo que se repetia. Inicialmente, um alívio enorme ao despertar, como se tivesse escapado de algum perigo; depois, o pesadelo ficava aos poucos mais preciso: ele fora cúmplice ou testemunha de algo grave ocorrido no passado; tinham prendido algumas pessoas; nunca fora identificado, mas vivia sob a ameaça de ser interrogado quando se dessem conta de seus laços com os “culpados”; e seria impossível, para ele, responder às perguntas.
– E a jovem com a criança? – perguntou ao dr. Voustraat.
Tinha ficado surpreso, momentos antes, quando o doutor dissera: “eu achava que fosse a irmã mais velha.” Talvez se abrisse ali um novo horizonte em sua vida, dissipando as zonas cinzentas: pais falsos de quem mal se recordava e que aparentemente queriam se livrar dele. E aquela casa em Saint-Leu-la-Forêt... Às vezes ele mesmo se perguntava o que estava fazendo ali. Começaria a pesquisar já no dia seguinte. Antes de mais nada, era preciso encontrar a certidão de nascimento de Annie Astrand. E também a sua própria certidão. Mas não bastaria uma reprodução datilografada; precisaria consultar diretamente o registro, onde tudo está escrito à mão. Nas poucas linhas referentes ao seu nascimento, encontraria rasuras, emendas, nomes que alguém tentara apagar.
– Costumava estar sozinha com o menino... Fizeram-me perguntas sobre ela também depois da busca na casa... Segundo as pessoas que me interrogaram, ela era uma “dançarina acrobática”...
Pronunciou as duas últimas palavras baixinho.
– É a primeira vez que eu falo dessa história depois de muito tempo... Além de mim, ninguém sabia realmente de nada disso em Saint-Leu... Eu era o vizinho mais próximo... Mas, como o senhor vê, não eram bem pessoas do meu mundo...
Sorriu para Daragane, um sorriso um tanto irônico, e Daragane sorriu também ao pensar que aquele homem de cabelos brancos curtos, de porte militar, e sobretudo com o olhar azul mais franco, fora – como ele mesmo dizia – o seu vizinho mais próximo.
– Imagino que o senhor não vá usar essas coisas todas no seu trabalho sobre Saint-Leu... Caso contrário, precisaria ir atrás de mais detalhes nos arquivos da polícia. Mas, francamente, acha que vale a pena?
A pergunta surpreendeu Daragane. Tê-lo-ia o dr. Voustraat reconhecido e posto a nu? “Mas, francamente, acha que vale a pena?” Dissera isso de forma gentil, em tom de advertência paternal ou mesmo de conselho familial – um conselho de alguém que nos conheceu na infância.
– Certamente que não – disse Daragane. – Seria algo deslocado em um simples trabalho sobre Saint-Leu-la-Forêt. A rigor, até daria um romance.
Introduzira o pé em uma rampa escorregadia, e estava quase a ponto de descer por ela: confessar ao dr. Voustraat o verdadeiro motivo pelo qual tinha batido à sua porta. Poderia até lhe dizer: “Doutor, passemos ao consultório, como antigamente... para fazer a consulta... Ainda fica no fundo do corredor?”
– Romance? Seria preciso conhecer todos os protagonistas. Passaram muitas pessoas por essa casa. Os homens que me interrogaram tinham uma lista de nomes e me citavam um por um... Mas eu não conhecia nenhum deles.
Daragane adoraria pôr a mão nessa lista. Ela certamente o ajudaria a encontrar alguma pista sobre Annie. Mas aquela gente toda tinha se escondido por aí trocando de sobrenome, de nome e de rosto. A própria Annie já não devia se chamar Annie, se é que ainda estava viva.
– E o menino? – perguntou Daragane. – Teve notícias dele?
– Nenhuma. Muitas vezes me perguntei o que teria sido dele. Um modo estranho de começar a vida.
– Provavelmente, tinham-no matriculado em alguma escola...
– Sim. Na escola da Forêt, na rua de Beuvron. Lembro-me de ter escrito um bilhete para justificar uma vez a sua ausência por causa de uma gripe.
– Talvez se possa encontrar na escola algum registro da sua passagem por lá.
– Infelizmente não. A escola da Forêt foi demolida há uns dois anos. Era uma escola muito pequena, sabe...
Daragane lembrou-se do pátio de recreio. Seu piso de carvão mineral, os plátanos e o contraste que havia nas tardes de sol entre o verde da folhagem e a cor escura do chão. Para isso nem precisou fechar os olhos.
– A escola já não existe, mas posso levá-lo para conhecer a casa.
Mais uma vez teve a sensação de que o dr. Voustraat já sabia quem ele era. Não, não era possível. Já não havia nada em comum entre ele e aquele menino que abandonara junto com os outros, com Annie, com Roger Vincent e com os sujeitos que apareciam de noite, de carro, cujos nomes figuravam naquela lista – lista de passageiros de um barco afundado.
– Deixaram comigo uma cópia da chave para o caso de algum paciente que tenha interesse em conhecê-la. Está à venda. Mas até agora não apareceram muitos clientes. Quer que eu o leve lá?
– Outra vez.
O dr. Voustraat pareceu decepcionado. No fundo, pensou Daragane, ele ficou contente de me receber e conversar. Deve ser uma pessoa solitária, ainda mais nessas tardes intermináveis de folga.
– Tem certeza? Não lhe interessa? É uma das casas mais antigas de Saint-Leu... Como diz o nome, foi construída no lugar onde ficava um velho leprosário... pode ser útil para o seu livro.
– Outro dia – disse Daragane. – Prometo voltar aqui.
Não tinha coragem de entrar na casa. Preferia que ela continuasse a ser para ele um desses lugares que nos foram um dia familiares e que às vezes ocorre visitarmos em sonhos: na aparência, são os mesmos, mas ficam impregnados de alguma coisa insólita. Um véu ou uma luz direta demais... E, nesses sonhos, cruzamos com pessoas de quem gostávamos e que sabemos estarem mortas. Se lhes dirigimos a palavra, elas não ouvem a nossa voz.
– Os móveis são os mesmos de quinze anos atrás?
– Está desmobiliada – disse o dr. Voustraat. – Todos os cômodos estão vazios. O jardim virou uma verdadeira mata virgem.
O quarto de Annie, do outro lado do corredor, de onde, em seu meio-sono, chegavam-lhe sons de vozes e de gargalhadas. Ela estava com Colette Laurent. Mas, frequentemente, a voz e o riso eram de um homem que ele nunca vira na casa durante o dia. Esse homem devia partir bem cedo pela manhã, antes da hora da escola. Um desconhecido, que assim permaneceria para sempre. Outra lembrança, mais precisa, ocorreu-lhe sem que tivesse feito nenhum esforço para isso, como as palavras de canções que aprendemos na infância e que podemos recitar a vida inteira sem entender o que significam. As duas janelas do seu quarto davam para a rua – que não era a mesma de agora –, uma rua sombreada por árvores. Na parede branca, em frente à sua cama, uma gravura colorida de flores, de frutas e de folhas, com a seguinte legenda: BELADONA E MEIMENDRO. Muito depois ele viria a saber que se tratava de plantas venenosas, mas, naquele momento, o que lhe interessava era decifrar as letras: beladona e meimendro, as primeiras palavras que aprendeu a ler. Havia outra gravura, entre as duas janelas: um touro negro, com a cabeça abaixada, que o fitava com olhar melancólico. A inscrição dizia TOURO DOS PÔLDERES DE HOLSTEIN em letras menores e mais difíceis de ler que as de beladona e de meimendro. Mas ele conseguiu lê-las depois de alguns dias, chegando até a copiar todas essas palavras em um bloco de papel de cartas que Annie lhe dera.
– Doutor, se entendi bem, eles não encontraram nada na busca...
– Não sei. Vasculharam a casa de alto a baixo durante dias. Deviam ter escondido alguma coisa ali...
– Os jornais da época não publicaram nada sobre essa busca?
– Não.
Nesse instante, um projeto quimérico atravessou a mente de Daragane: ele mesmo compraria aquela casa, usando para isso o dinheiro dos direitos autorais do livro de que escrevera até ali apenas duas ou três páginas. Depois, selecionaria as ferramentas necessárias: chaves de fenda, martelos, pés de cabra, alicates, e ele mesmo faria, dias a fio, uma busca minuciosa. Aos poucos, arrancaria os lambris da sala e dos quartos e quebraria os espelhos para ver o que ocultavam. Procuraria escadas secretas e portas camufladas. E acabaria encontrando aquilo que havia perdido e sobre o qual jamais pudera falar com ninguém.
– O senhor veio até aqui de ônibus? – perguntou o dr. Voustraat.
– Sim.
O médico consultou as horas no relógio de pulso.
– Infelizmente eu não teria como levá-lo de carro até Paris. E o último ônibus para a Porta de Asnières parte em vinte minutos.
Caminhando juntos pela rua do Ermitage, passaram na frente da edificação de concreto erguida no lugar do antigo muro do jardim, mas Daragane não sentiu vontade de comentar nada sobre esse muro agora desaparecido.
– Quanta neblina – disse o doutor. – O inverno já chegou...
Avançaram em silêncio, lado a lado, o médico bastante ereto, rígido, com o porte de um ex-oficial de cavalaria. Daragane não se lembrava de ter caminhado assim, de noite, na infância, pelas ruas de Saint-Leu-la-Forêt. Com exceção de uma vez, no Natal, quando Annie o levara, meia-noite, à Missa do Galo.
O ônibus o aguarda, com o motor ligado. Aparentemente, era o único passageiro.
– Foi muito bom ter conversado a tarde inteira com o senhor – disse o médico, estendendo-lhe a mão. – E gostaria de receber notícias do seu livrinho sobre Saint-Leu.
No momento em que Daragane ia embarcar no ônibus, o doutor segurou-o pelo braço.
– Pensei uma coisa... sobre o leprosário e essas pessoas esquisitas de que falamos... Talvez a melhor testemunha possa ser aquele menino que morava lá... O senhor precisa encontrá-lo... Não acha?
– Seria muito difícil, doutor.
Sentou-se bem no fundo do ônibus e olhou através do vidro de trás. O dr. Voustraat ficara parado ali, provavelmente aguardando que o ônibus desaparecesse na primeira curva. Fez-lhe um aceno de despedida com a mão.
Em seu escritório, resolveu recolocar na tomada o telefone e a secretária eletrônica para o caso de Chantal Grippay tentar contatá-lo. Certamente, desde que retornara do Cassino de Charbonnières, Ottolini não a largava nem por um segundo. Ela precisava pegar de volta o vestido preto com as andorinhas, pendurado ali, sobre o encosto do sofá, como esses objetos que não querem nos deixar e nos perseguem a vida inteira. Como aquele Volkswagen azul de sua juventude, do qual teve de se livrar depois de alguns anos. No entanto, toda vez que mudava de casa, encontrava-o estacionado na frente do seu prédio – e isso acontecera durante um bom tempo. O automóvel se mantinha fiel a ele, perseguindo-o por todas as partes. Tinha, no entanto, perdido as suas chaves. De repente, um dia, ele desapareceu, talvez em um daqueles cemitérios de automóveis atrás da Place d’Italie, onde depois se começou a construir a rodovia do Sul.
Queria encontrar “Retorno a Saint-Leu-la-Forêt”, o primeiro capítulo de seu livro. A busca, porém, seria vã. Nessa noite, enquanto contemplava a copa da espirradeira do pátio do prédio vizinho, ele dizia a si mesmo que tinha rasgado esse capítulo. Tinha certeza disso.
Descartara também um segundo capítulo: “Place Blanche”, escrito em seguida a “Retorno a Saint-Leu-la-Forêt”. Dessa forma, retomara tudo desde o início, com a dolorosa sensação de ter de corrigir um começo totalmente equivocado. E, no entanto, as únicas lembranças que guardava desse primeiro romance eram os dois capítulos descartados, que haviam servido de pilares para o restante, ou, mais exatamente, de andaimes, que são retirados uma vez concluído o livro.
Escrevera as vinte páginas de “Place Blanche” em um quarto de um antigo hotel na rua Coustou, 11. Morava de novo no baixo Montmartre, quinze anos depois de ter conhecido a área por causa de Annie. Com efeito, eles tinham se mudado para lá ao deixar Saint-Leu-la-Forêt. E ele achava que seria mais fácil escrever um livro se voltasse aos lugares que tinha conhecido com ela.
Deveriam ter mudado de aspecto desde aqueles tempos, mas não foi bem assim que ele os encontrou. Certa tarde, quarenta anos depois, no século XXI, passou por acaso, de táxi, pelo bairro. O carro tinha parado em um engarrafamento, na esquina do bulevar de Clichy com a rua Coustou. Nada reconhecera durante alguns minutos, como se tivesse sido atingido por uma amnésia e se transformado em um estrangeiro em sua própria cidade. Mas isso não tinha nenhuma importância para ele. Pois, com o passar dos anos, as fachadas dos prédios e os cruzamentos tinham se tornado uma paisagem interior, que acabava se sobrepondo à Paris uniforme e como que empalhada dos dias de hoje. Acreditou estar vendo, à direita, a placa do estacionamento da rua Coustou, e adoraria pedir ao motorista de táxi que o deixasse ali mesmo para que ele pudesse retornar, depois de quarenta anos, ao seu velho quarto.
Naqueles tempos, em um andar acima do seu, dera-se início a uma reforma que transformaria os velhos quartos do hotel em pequenos estúdios. Para escrever o seu livro sem ouvir os golpes dos martelos contra as paredes, ele se refugiava em um café da rua Puget, na esquina com a Coustou, visível justamente da janela do seu quarto.
Não havia nenhum freguês à tarde no estabelecimento, chamado Aero – mais bar do que café, a julgar pelos lambris claros, pelo teto com caixotões, pela fachada de madeira também clara com um vitral protegido por uma espécie de grade saliente. Atrás do balcão ficava um homem de seus quarenta anos, lendo um jornal; de vez em quando, ao longo da tarde, desaparecia por uma escadinha. Na primeira vez, Daragane ficou chamando-o em vão para pagar a conta. Depois, acostumou-se com a sua ausência e deixava sempre uma nota de cinco francos em cima da mesa.
Teve de esperar vários dias até que esse homem se dignasse a lhe dirigir a palavra. Antes disso, ignorava-o solenemente. Toda vez que Daragane lhe pedia um café, o outro parecia não ouvi-lo, e Daragane se espantava com que, no final, o homem sempre se dirigia para a cafeteira. Depois, colocava a xícara de café sobre a mesa sem nem sequer olhar para seu rosto. Daragane sentava-se bem no fundo do salão, como se ele mesmo quisesse ser esquecido.
Certa tarde, quando acabava de revisar uma página de seu manuscrito, ouviu uma voz grave:
– Então, está fazendo suas contas?
Ergueu a cabeça. Ali, atrás do balcão, o outro lhe sorria.
– O senhor vem numa hora ruim. Aqui à tarde é um deserto.
E avançou até a mesa, com o mesmo sorriso irônico.
– Permite?
Puxou a cadeira e se sentou de frente para ele.
– O que o senhor escreve, na verdade?
Daragane hesitou.
– Um romance policial.
O outro moveu a cabeça, fitando-o com um olhar incômodo.
– Moro no prédio da esquina, mas estão fazendo uma reforma e há barulho demais para trabalhar.
– O antigo hotel Puget? Na frente do estacionamento?
– Sim – disse Daragane. – E o senhor está aqui há muito tempo?
Tinha o hábito de desviar o assunto, para evitar falar de si. Seu método era sempre responder a uma pergunta com outra pergunta.
– Sempre vivi neste bairro. Antes eu cuidava de um hotel, um pouco mais para baixo, na rua Laferrière...
Essa palavra, Laferrière, acelerou o seu coração. Ao deixar Saint-Leu-la-Forêt com Annie para viver nesse bairro, ambos tinham ficado morando em um quarto na rua Laferrière. Ela se ausentava de vez em quando, deixando com ele uma cópia da chave. “Se for passear, cuidado para não se perder.” Em uma folha de papel dobrada em quatro que ele logo guardava no bolso, ela tinha escrito, com sua letra grande: “rua Laferrière, 6.”
– Conheci uma mulher que morava ali – disse Daragane, com voz apagada. – Annie Astrand.
O homem olhou-o surpreso.
– Então você devia ser realmente bem jovem. Isso já tem uns vinte anos...
– Eu diria quinze.
– Eu conheci principalmente o irmão dela, Pierre. Era ele que morava na rua Laferrière. Cuidava do estacionamento ao lado. Mas faz muito tempo que não tenho nenhuma notícia dele.
– O senhor tem alguma lembrança dela?
– Um pouco... Ela deixou o bairro muito jovem. Pelo que Pierre me contou, era protegida de uma mulher que tinha uma boate na rua de Ponthieu.
Daragane se perguntou se o homem não estaria confundindo Annie com outra mulher. No entanto, uma amiga dela, Colette Laurent, costumava aparecer bastante em Saint-Leu-la-Forêt, e um dia eles a levaram de volta de carro a Paris, deixando-a em uma rua próxima do passeio dos Champs-Elysées, onde se realizava a feira de selos. Seria essa a rua de Ponthieu? As duas tinham entrado em um prédio, enquanto ele aguardava no banco de trás do automóvel que Annie voltasse.
– Sabe que destino ela teve?
O homem olhou-o com certa desconfiança.
– Não. Por quê? Ela era mesmo sua amiga?
– Eu a conheci na minha infância.
– Bem, isso muda tudo... Mas agora já não pode acontecer nada!
Sorriu novamente e se inclinou na direção de Daragane.
– Naquela época, Pierre me contou que ela passara por alguns problemas e tinha sido presa.
Era a mesma frase usada por Perrin de Lara um mês antes, na noite em que o encontrara, sozinho, sentado no terraço de um café. “Tinha sido presa.” O tom de cada um desses homens, porém, era diferente: uma distância contendo certo desprezo no caso de Perrin de Lara, como se Daragane o tivesse forçado a falar de uma pessoa que não pertencia ao seu mundo, e uma espécie de familiaridade no caso do outro, já que este conhecia “seu irmão Pierre” e “ser presa” lhe parecia algo banal. Seria por causa de alguns de seus fregueses que apareciam, como contara a Daragane, “a partir das onze horas da noite”?
Ele raciocinava que Annie certamente lhe explicaria algumas coisas – isso se ainda estivesse viva. Depois, já com seu livro publicado e tendo tido a oportunidade de revê-la, não fez nenhuma pergunta sobre o assunto. E ela nem responderia. Também não comentou nada sobre o quarto da rua Laferrière nem sobre o papel dobrado em quatro em que ela escrevera seu endereço. Tinha perdido essa folha. E mesmo que a tivesse guardado, durante aqueles quinze anos, e a mostrasse para ela, Annie lhe diria: “Mas essa letra não é minha, meu pequeno Jean.”
O sujeito do Aero ignorava o motivo pelo qual ela tinha sido presa. “Seu irmão Pierre” não lhe dera nenhum detalhe a esse respeito. Mas Daragane se lembrava de que, na véspera de sua partida de Saint-Leu-la-Forêt, ela parecia nervosa. Tinha até se esquecido de pegá-lo às quatro e meia da tarde à saída da escola, e ele voltara para casa sozinho. Não dera importância a isso, na verdade. Era fácil, bastava seguir pela mesma rua, sempre em frente. Annie estava na sala, ao telefone. Fez-lhe um aceno com a mão e continuou a falar no aparelho. De noite, ela o levou ao seu quarto, e ele ficou ali vendo-a encher uma mala com roupas. Teve medo de que o deixasse em casa sozinho. Mas ela disse que os dois partiriam para Paris no dia seguinte.
Na mesma noite, ele ouviu vozes no quarto de Annie. Reconheceu, dentre elas, a de Roger Vincent. Um pouco mais tarde, ouviu o barulho do motor do carro americano distanciar-se até silenciar totalmente. Sentiu medo, então, da possibilidade de ouvir também o carro dela ser ligado. E adormeceu.
Num final de tarde em que saía do Aero depois de escrever duas páginas de seu livro – o trabalho das reformas no hotel se encerrava às seis –, ele se perguntou se os passeios que fizera quinze anos antes pelo bairro sem Annie o tinham alguma vez levado até ali. Esses passeios não deviam ter sido muitos, e certamente foram menos demorados do que em suas lembranças. Teria Annie realmente permitido que uma criança passeasse sozinha por aquele bairro? O endereço escrito por seu próprio punho na folha de papel dobrada em quatro – um detalhe que ele não teria como ter inventado – era uma prova disso.
Lembrava-se de ter subido por uma rua ao fim da qual se via o Moulin-Rouge. Não ousara ir além da superfície plana do bulevar, com medo de se perder. Ou seja: teriam bastado alguns poucos passos para ele estar, então, no mesmo lugar onde se encontrava agora. E esse pensamento provocou nele uma sensação estranha, como se o tempo tivesse sido eliminado. Quinze anos atrás, ele estava passeando sozinho bem perto dali sob um sol de julho, e agora era dezembro – já fazia noite toda vez que saía do Aero. Mas, para ele, de repente, as estações e os anos se confundiam. Decidiu caminhar até a rua Laferrière – o mesmo trajeto de antes –, seguindo reto, sempre em frente. As ruas eram na verdade ladeiras, e, à medida que as descia, tomava conta dele a certeza de que o tempo estava passando ao contrário. Na parte baixa da rua Fontaine a noite já clareava, o dia ia começar, e mais uma vez o sol de julho estaria de volta. Naquele papel dobrado em quatro, Annie não escrevera apenas o seu endereço, mas também as palavras: PARA VOCÊ NÃO SE PERDER NO BAIRRO, com sua letra enorme, uma letra à moda antiga, que já não se ensinava na escola de Saint-Leu-la-Forêt.
A ladeira da rua Notre-Dame-de-Lorette era tão acentuada como a anterior. Bastava se deixar levar. Um pouco mais abaixo. À esquerda. Só uma vez eles tinham voltado para casa quando já era noite. Foi na véspera da partida de trem. Ela pôs a mão sobre a cabeça dele, ou na nuca, num gesto de proteção para ter certeza de que ele realmente caminhava a seu lado. Voltavam do hotel Terrass, que ficava atrás da ponte que passa por cima do cemitério. Haviam entrado nesse hotel, e ele logo reconheceu Roger Vincent, sentado numa poltrona ao fundo do hall. Sentaram-se com ele. Annie e Roger Vincent conversavam sem ligar para a sua presença. Ele os ouvia, sem entender o que diziam. Falavam baixo. Em certo momento, Roger Vincent foi repetitivo e insistente: Annie precisava “pegar o trem” e “deixar o carro no estacionamento”. Ela discordava, mas acabou dizendo: “Sim, você tem razão, é mais prudente.” Roger Vincent voltou-se para ele, sorrindo. “Isso é para você”, e lhe entregou um cartão azul-marinho dizendo: “É o seu passaporte.” Reconheceu-se na foto, uma das que tinham sido tiradas naquela cabine onde ele piscava os olhos toda vez que o flash se acendia. Na primeira página, pôde ler o seu nome e a data de nascimento. Mas o sobrenome não era o seu, e sim o de Annie: ASTRAND. Roger Vincent lhe disse, com voz grave, que ele precisava ter o mesmo sobrenome da “pessoa que o acompanharia”, e essa explicação lhe foi suficiente.
Na volta, ele e Annie caminharam pela reta do bulevar. Depois do Moulin-Rouge, tomaram uma pequena rua à esquerda, no fim da qual se erguia a fachada de um estacionamento. Atravessaram uma garagem que cheirava a gasolina e a escuridão. Ao fundo, uma sala com paredes de vidro. Um jovem estava atrás de uma mesa, o mesmo jovem que fora algumas vezes a Saint-Leu-la-Forêt e que o levara, certa tarde, ao Circo Médrano. Falaram sobre o carro de Annie, que se podia ver dali, estacionado ao lado de uma parede.
Saíram juntos do estacionamento. Já estava escuro, e ele queria ler as palavras do luminoso: “Estacionamento da Place Blanche”, as mesmas palavras que voltaria a ler quinze anos depois, debruçado sobre a janela de seu quarto na rua Coustou, 11. Ali, depois que ele apagava a luz e se deitava para dormir, elas projetavam reflexos em forma de treliça na parede em frente à sua cama. Deitava cedo por causa da reforma, cujos trabalhos começavam às sete horas da manhã. Era difícil escrever depois de uma noite mal dormida. Quase adormecendo, ouvia a voz de Annie, cada vez mais distante, e só conseguia entender um pedaço de frase: “... PARA VOCÊ NÃO SE PERDER NO BAIRRO...” Ao acordar, nesse quarto, deu-se conta de que tinham sido necessários quinze anos para que atravessasse a rua.
Nessa tarde do ano passado, dia 4 de dezembro de 2012 – ele registrou a data em seu caderno –, diante do engarrafamento que persistia, pediu ao taxista que pegasse a rua Coustou, à direita. Enganara-se ao acreditar ter visto de longe a placa do estacionamento, já que este já não existia. Assim como a fachada de madeira escura do Néant, na mesma calçada. Em ambos os lados, as fachadas dos prédios pareciam novas, como que cobertas por um revestimento ou uma película de celofane branco que apagava as rachaduras e as manchas do passado. Por trás desse revestimento, mais profundamente, realizara-se uma espécie de taxidermia, esvaziando-se de tudo o que havia. Na rua Puget, uma parede branca substituía o madeirame e o vitral do Aero; um branco neutro, da cor do esquecimento. Ele também, durante mais de quarenta anos, encobrira de branco o período em que escrevera o seu primeiro livro e aquele verão em que passeava sozinho levando no bolso o papel dobrado em quatro: PARA VOCÊ NÃO SE PERDER NO BAIRRO.
Naquela noite, ele e Annie não haviam trocado de calçada ao saírem do estacionamento. Por isso, certamente tinham passado na frente do Néant.
Quinze anos depois, o Néant ainda existia. Nunca tivera vontade de entrar ali. Temia remexer em um buraco negro. Aliás, parecia-lhe que ninguém entrava naquele lugar. Perguntara ao dono do Aero que tipo de espetáculo se apresentava ali – “acho que foi lá que a irmã de Pierre começou, aos 16 anos. Parece que os clientes ficam todos no escuro, com acrobatas, cavaleiros e stripers com cabeça de caveira”. Será que ao passarem por ali Annie teria dado uma olhadinha, naquela noite, para a entrada do estabelecimento onde tinha “começado”?
Ela o tomara pela mão, no momento de atravessar o bulevar. Era a primeira vez que ele via Paris à noite. Não desceram a rua Fontaine, que ele tinha o hábito de tomar quando passeava sozinho durante o dia. Ela o conduzia ao longo da reta. Quinze anos depois, ele caminhava na mesma reta, no inverno, por trás das barracas armadas para o Natal, e não conseguia tirar os olhos dos luminosos de neon brancos que atraíam a atenção e lhe dirigiam sinais de código Morse cada vez mais fracos. Parecia brilharem pela última vez e ainda pertencerem ao verão em que estivera no bairro com Annie. Quanto tempo teriam ficado ali? Meses? Anos? Teria sido como esses sonhos que nos parecem tão longos, mas que, ao despertarmos bruscamente, entendemos terem durado apenas alguns segundos?
Até a rua La Ferrière, sentia a mão dela a segurá-lo pela nuca. Era ainda uma criança, que podia se soltar e ser atropelada. Ao pé da escada, ela pôs o indicador sobre os lábios para sinalizar que deviam subir em silêncio.
Acordou diversas vezes durante a noite. Dormia no mesmo quarto que Annie, ela na cama, ele em um sofá. As duas malas estavam ao pé da cama – a de Annie era de couro, a dele, de latão. Ela despertara no meio da noite e saíra do quarto. Ele a ouviu conversar com um homem que devia ser seu irmão, aquele do estacionamento, e adormeceu. Na manhã seguinte, bem cedo, ela o acordou acariciando-lhe a testa e tomaram o café da manhã na companhia do irmão. Os três dividiam a mesma mesa, e ela vasculhou a sacola de mão, pois temia ter perdido o cartão azul-marinho que Roger Vincent dera a ele na véspera no hall do hotel – o “passaporte” em nome de Jean Astrand. Mas não. Ele estava ali, na sacola. Tempos depois, no quarto da rua Coustou, ele se perguntaria em que momento tinha perdido esse passaporte falso. Provavelmente no começo da adolescência, na época em que fora expulso de seu primeiro pensionato.
O irmão de Annie os levara até a estação de Lyon. Por causa da multidão, estava difícil andar na calçada na frente da estação e, depois, no hall principal. O irmão de Annie carregava as malas. Annie explicava que era o primeiro dia das férias. Foi retirar as passagens em um guichê, enquanto ele esperava com o irmão, que pôs as malas no chão. Era preciso tomar cuidado para as pessoas não esbarrarem e para os carrinhos de mão dos carregadores não passarem por cima dos pés. Um tanto atrasados, foram correndo para a plataforma, com ela lhe segurando firme no pulso para que não se perdesse na multidão; o irmão os seguia com as malas. Embarcaram em um dos primeiros vagões, o irmão de Annie atrás. Muita gente no corredor. O irmão colocou as malas à entrada do vagão e deu um beijo em Annie. Depois, sorriu para ele e disse ao pé do ouvido: “Não esqueça... Você agora se chama Jean Astrand... Astrand.” Desceu rapidamente de volta para a plataforma e fez um aceno com a mão. O trem começou a andar. Sobrara um lugar vazio em uma das cabines. “Sente-se ali”, disse Annie, “eu fico no corredor.” Ele não queria se separar dela. Annie então o levou até o lugar segurando-o pelos ombros. Ele tinha medo de que ela o deixasse, mas o lugar ficava do lado da porta da cabine, e ele podia, assim, vigiá-la. Ela ficou de pé no corredor, sem se mover. De tempos em tempos, voltava-se para ele e sorria. Acendeu um cigarro com seu isqueiro de prata, apoiou a testa no vidro da janela e certamente contemplava a paisagem. Ele mantinha a cabeça abaixada, para não cruzar com os olhares dos demais viajantes da cabine. Temia que lhe fizessem perguntas, como os adultos costumam fazer quando deparam com uma criança sozinha. Pensou em perguntar a Annie se as suas malas ainda estariam no mesmo lugar, no começo do vagão, e se não havia o risco de alguém roubá-las. Ela abriu a porta da cabine e se inclinou para ele, dizendo em voz baixa: “Vamos para o vagão-restaurante. Lá eu posso me sentar com você.” Ele sentia que os passageiros da cabine ficavam o tempo todo de olho neles dois. As imagens se sucedem umas às outras, aos saltos, como um filme cuja película está gasta demais. Os dois avançam pelos corredores dos vagões, com ela a segurá-lo pelo pescoço. Ele sente medo quando passam de um vagão para o outro, quando o trem balança tão forte que há o risco de levar um tombo. Ela aperta seu braço, para que ele não se desequilibre. Sentam-se de frente um para o outro numa das mesas do vagão-restaurante. Por sorte, conseguem uma mesa apenas para eles; além disso, não há quase ninguém nas outras mesas, diferentemente de todos os vagões por onde tinham acabado de passar, cujos corredores e cabines estavam lotados. Ela lhe alisa o rosto com a mão e diz que permaneceriam sentados ali durante o maior tempo possível e, se ninguém aparecesse para incomodá-los, até o fim da viagem. O que o preocupa são as duas malas que eles deixaram lá atrás, no começo do outro vagão. Ele se pergunta se não acabarão por perdê-las, se é que alguém já não as tinha roubado. Deve ter lido uma história desse tipo em um dos livros da Biblioteca Verde que Roger Vincent levara para ele um dia em Saint-Leu-la-Forêt. E talvez seja justamente por causa disso que um sonho tenha passado a persegui-lo por toda a vida: malas perdidas em um trem, ou então um trem que parte com as suas malas enquanto você fica na plataforma. Se conseguisse se lembrar de todos os seus sonhos hoje em dia, contabilizaria centenas e centenas de malas perdidas.
“Não se preocupe, meu pequeno Jean”, diz Annie, sorrindo. E essas palavras o tranquilizam. Estão sentados nos mesmos lugares, depois de almoçar. Não há mais ninguém no vagão-restaurante. O trem para em uma grande estação. Ele pergunta se chegaram. Ainda não, responde Annie. Ela diz que devem ser seis horas da tarde, pois é sempre nessa hora que o trem chega a esta cidade. Alguns anos depois, ele tomará com frequência esse mesmo trem e saberá o nome da cidade aonde se chega, no inverno, ao cair da tarde. Lyon. Ela tira um baralho da sacola e tenta ensiná-lo a jogar paciência, mas ele não consegue entender nada do jogo.
Nunca fez uma viagem tão longa. Ninguém aparece para incomodá-los. “Esqueceram-se de nós”, diz Annie. E as lembranças que lhe restam de tudo isso também são cercadas pelo esquecimento, com exceção de algumas imagens mais precisas, quando o filme trava e acaba se fixando em uma delas. Annie vasculha na sacola de mão e lhe entrega o cartão azul-marinho – seu passaporte – para que ele memorize bem o seu novo sobrenome. Dali a alguns dias, irão cruzar “a fronteira” para ir a outro país, a uma cidade que se chama “Roma”. “Guarde bem esse nome: Roma. E eu juro a você que em Roma eles não conseguirão nos encontrar. Tenho amigos lá.” Ele não entende muito bem o que ela quer dizer, mas, como ela dá uma gargalhada, ele também dá. Ela joga paciência de novo, e ele a observa dispondo as cartas enfileiradas sobre a mesa. O trem para novamente em uma grande estação, e ele pergunta se já chegaram. Não. Ela lhe empresta o baralho, e ele se diverte organizando as cartas conforme suas cores. Espadas. Ouros. Paus. Copas. Ela diz que chegou a hora de irem pegar as malas. Tomam o caminho de volta pelos vagões. Ela o segura ora pelo pescoço, ora por um braço. Os corredores e as cabines estão vazios. Ela diz que todos os demais passageiros tinham descido antes deles. Um trem fantasma. Encontram as malas no mesmo lugar, no começo do vagão. Já é noite, e agora estão na plataforma deserta de uma pequena estação. Seguem por uma trilha estreita que avança paralelamente ao trilho do trem. Ela para diante de uma porta, em um muro, e tira uma chave da sacola. Descem por um caminho no escuro. Uma grande casa branca com as janelas iluminadas. Entram em um cômodo cheio de luz, com um piso branco e preto. Mas, em sua memória, essa casa se confunde com a de Saint-Leu-la-Forêt, provavelmente por causa do pouco tempo que passou ali com Annie. O quarto onde dormiu, por exemplo, parece-lhe idêntico ao de Saint-Leu-la-Forêt.
Vinte anos depois, encontrando-se na Côte d’Azur, ele acreditou reconhecer a pequena estação e a trilha estreita pela qual haviam seguido entre os trilhos do trem e os muros das casas. Èze-sur-Mer. Chegou até a fazer algumas perguntas a um homem de cabelos grisalhos que tinha um restaurante na praia. “Deve ser a antiga Villa Embiricos, no cabo Estel...” Anotou o nome com certa displicência, mas, quando o homem acrescentou: “Um tal senhor Vincent a tinha comprado durante a guerra. Depois, ela foi embargada. Agora, a transformaram em um hotel”, sentiu medo. Não, ele não iria àqueles lugares para reconhecê-los. Temia fortemente que a tristeza, até ali enterrada, se propagasse pelos anos como rastilho de pólvora.
Nunca vão à praia. À tarde, ficam no jardim, de onde se vê o mar. Há um carro na garagem da casa, um carro maior do que o de Saint-Leu-la-Forêt. À noite, ela o levou para comerem juntos em um restaurante. Foram pelo caminho de Corniche. É com esse carro, ela conta, que eles atravessarão “a fronteira” e irão até “Roma”. No último dia, ela saiu várias vezes do jardim para telefonar, e parecia inquieta. Estavam sentados face a face em uma varanda, e ele a observava jogando paciência. Ela inclinou a cabeça e franziu a testa. Parecia refletir bastante antes de colocar as cartas sobre a mesa, mas ele notou uma lágrima a escorrer por sua face, tão pequenina que era difícil ver, como naquele outro dia em Saint-Leu-la-Forêt, em que estava sentado no carro, ao lado dela. À noite, ela deu um telefonema no quarto vizinho. Ele ouviu sua voz, mas não conseguiu captar as palavras. Na manhã seguinte, foi acordado pelos raios de sol que penetravam no quarto através das cortinas e formavam manchas cor de laranja na parede. No começo, não era quase nada, um rangido de pneus sobre o cascalho, um barulho de motor que se distancia, e ele precisou ainda de um pouco de tempo para se dar conta de que ficara sozinho na casa..
Patrick Modiano
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















