PASSAGEM DOS INOCENTES / Dalcídio Jurandir
PASSAGEM DOS INOCENTES / Dalcídio Jurandir
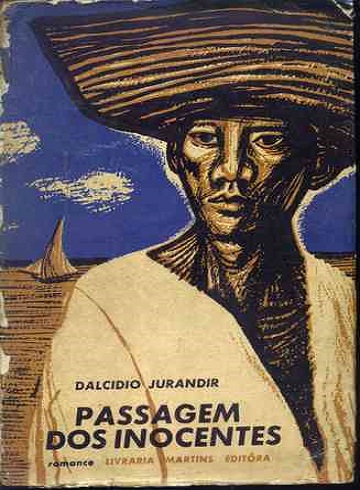
Não me queixo. Me finquei, daqui eu me mudar? Concordo, me mudo, mas de canela esticada, boca dura, levado de pé junto para aquele sempre nosso rumo. Mas porém só o corpo, este que a terra pede, lhe apetece? Pois faça bom proveito, jante o velho, não lhe gabo o gosto. O espírito, não. Aqui fica, pendurado no esse da rede, na cumeeira ajudando o cajueiro a dar caju mais doce. Ou pelos ninhos perto. Ah que fico-fico. Mea alma é-é deste mundo. Ela no outro? Não tenho vão, do céu não sei o rumo, não me arrisco. Inferno? Purguei aqui, a purga é pouca, não peso, não pequei mortal. O Além? O Além é aqui mesmo Está aí no tajazeiro, dentro dum bicho. eu sei- As almas vagam mas aqui, rente. Lá em cima é privilégio, é o lugar da tua avó, da tua maninha, a anjada toda. As iguais a esta minha? É o pó deste ar. E este lugar, senhor meu neto, escreva, este aqui não me desgosta. Fico, não subo, também naquele tacho fervendo não desço, o pé não ponho. Fico. Escutou, meu capitão?. É. E o que escutou guarde.
Escutou, guardou, mas muito do admirado. Dá cada um avô. O avô, calombento, andava um pouco de banda, o peito ossudo, queixoso dos rins; do cabelo cinzento as. moitas em volta da careca tostada, um olhar de zangadão fingidor, mesmo dizendo uma graça era sisudo; mesmo com a caninha lhe subindo, o sempre pausado no falar. Tinha uma voz de provérbio. Sentado no molho de cipó, entre os cestos de tala ainda verde, o avô destrançava as fibras, ou no mochinho a enfiar tala por tala, os dedos, que pareciam entrevados, no tecer tão maneiro, tão sabidos, o avô dedilhava. E Alfredo teve uma semelhante visão: o avô não tecia, tocava. O cantar, o gemer, o bulício das folhas e do chão saíam de sua harpa. (Que harpa, Alfredo via, horas, no Dicionário). Os cestos e paneiros enfeixados noutra manhã, lá se’ iam no ombro. do avô para o trapiche Entre o avô e os miritizeiros havia uma sociedade. Das folhas de miriti que trazia, compridas ripas, saía que saía paneiro, quanto? E aqui, em casa era todo de miriti o paredame da cozinha, varanda, fundos, porta, janela de miriti. Até possível seria que ao ver o velho, os miritizeiros avisavam: lá vem o nosso 11 bom Bibiano O miriti era o fio de sua fiação, dizia. E do miriti dava ao neto os frutos luzentes duros casca vermelha polpa dourada. Quem mandava para o chalé aqueles paneiros de miriti era sempre o avô. As frutas na dispensa iam aos poucos amolecendo, ou coziam na lata d’água fervendo, delas a mãe espremia o vinho. Bom camarada o miriti, caroço grelando no caminho do igarapé onde, na enchente, as frutas bubuiavam, já moles, que Alfredo com delícia descascava, devagarinho comia. Seguiu uma vez o avô até o miritizal, o velho ali sentava, também miritizeiro, silencioso; antes de apanhar as palmas olhava os seus iguais um a um, como se quisesse mesmo ser um deles, ou dentro de cada, um visse uma pessoa de seu sangue. Essa manhã no miritizal tirou do Alfredo um pouco do azedume trazido de Cachoeira, dos poucos dias de chalé.
Ah! que veio de ferida aberta. Carregando aquela visão dos Alcântaras na casa de Nazaré que só faltava dizer: vou cair, pensou sossegar um pouco em Cachoeira em companhia de Andreza. Mal saltou, e Andreza? Foi procurando sem perguntar a ninguém, a indagar só das coisas, da pontezinha sobre a vala, dos velhos cachorros e velhos urubus, ela cadê, me, dêem ela. Disfarçando a busca, por quê? não sabia, procurava. Correu os lugares de Andreza, seus esconderijos, tão dela! O pardieiro, onde morreu o tio, ainda cheirava àquela agonia, do velho rendido, dele a solidão e a cabeça do cachimbo ali esquecida. Restava o chão liso, e aquele pedaço, já podre, encharcado da última chuva, da esteira onde coitadinha, ela dormia, E no algodoal bravo, não? Quem sabe no ferreiro: a forja apagada, em cima da bigorna, o pinto pelado entanguido que nem velho; na rede bem baixa que roçava o chão o seu Bento, a barba de trapo, num olhar de ferro em brasa sobre o visitante: aqui, de Andreza nem fagulha.
Vamos que debaixo do trapiche do Saiu se esconda, dentro da barrica das roscas, num abatumado de folhas de jenipapeiro, a remendar tarrafa no jirau da nhá Porcina? Alfredo desentendia. A ausência dela desfigurava o rio, misturava caminhos, esta parte naquela; Andreza, não 12 estando, desmanchava tudo, era um desrumo, agora tudo desencontrava. Rio e chão desconheceu. Uma noite no chalé: Andreza, Andreza! acordou chamando. A mãe, até essa hora sem uma palavra sobre Andreza, fez que fez uma indagação pela vizinhança: Andreza estava no Por Enquanto, outra fazenda que o dr. Lustosa com os seus dentes de arame farpado abocanhou. Por que a mãe, ele chegando no chalé, não falou de Andreza como se nunca tivesse Andreza no mundo? Vendo que nem um caso o filho fazia para saber de Andreza, a mãe não só estranhou, como tinha as suas razões, se quisesse. de dizer: eu que me dou por achada? Aqui me fecho, meu partioso, põe teu cachorro no rastro, desencava com a tua perna, disfarçado.
— Já sabe, não? No Por Enquanto, antes lá que aqui batendo perna.
— Ora, mamãe, se foi nome que nem pensei. Pelo nome dela que chamei, sonhando? Não. Um puro pesadelo. Que quero dela, eu ligo?
Mas foi ouvir, falar, escoou-se pelos fundos do chalé, pegou a correr aventurou-se campo acima direto no Por Enquanto. Deu com a cerca de arame, a mão na farpa, em risco de se cortar. A quantas braças, numa boa distância, na ventania morna, a casa do Por Enquanto, de madeira, um barco no descampado, a proa sob as cinzas e fumo do campo que um fogo queimou; o alpendre pintado de branco e alto que nem uma vela içada; deu mais vento, a casa parecia velejando ao sopro dos lavradões; nisto eivêm uns cavalos assanhados, meio desembestados, aí que levantou poeira, um poeiral sobre o sol, espantado, lá no fundo. Deu-lhe um repente, de gritar. Andreza! Andreza! O grito na goela, tossiu com a poeira, quase a cortar a mão no arame e ai! a formiga de fogo bem na costa do pé, deu um salto, só dum pé, a mão no outro, o capim espetava. Que Andreza virasse um sumiço, por isto até suspirava, ela e esta formiga a mesma coisa era, todas duas do diabo. Que suma, oh alívio, crie bicheira, se aposteme. Por deixar de ver Andreza fico cego? Se a voz dela não oiço, surdo fico? É a comida que como, a água que eu bebo? Se ao menos a ordinária desta formiga fosse a tal taoca, que é só 13 morder, o mordido de muita moça é querido, coisa nenhuma, o tio Sebastião mentia.
Nas suas poucas tardes de Cachoeira, andou rondando a cerca. Proibido tirar lenha, dizia a tabuleta. E dava a volta, agora calçado, olhando só de longe. Nas janelas, ninguém-ninguém. Nem um vestígio da invisível nem na corda de roupa um trapinho dela, um assobio dos bem seus, este grito, uma idéia dela de aparecer no rolo de cinza no pé de vento, um ciscar aqui e ali de piaçoca arisca, aquele ar que Andreza espalhava, aquela poeira de seus pés, aquele espanto que ela deixava nos pássaros. bois, porcos, borboletas, sinal de sua passagem. Tão-só nas suas indagações, Alfredo ia, vinha, do seu sossego adeus. Ou estão me enganando? Andreza, quem sabe... voltava ao chalé, por dentro um formigueiro de fogo, corria, ficava em pé na janela olhando o rio, ou estão me enganando? Ela estava mesmo no Por Enquanto ou, igual a Maninha, debaixo... Comida das minhocas? Não. Aquele sonho era ela de verdade, como prometia, se deste mundo batesse a asa? «Se for minha sina eu morrer primeiro que tu, minha sombra não te deixa, na rede te cutuco, eu visagem, eu te prometo, prendo o teu anjo da guarda no buraco do meu dente». De noite, Alfredo nos embalos, altas horas, ouvia no vento, nos bacuraus, na lastimação dos bichos da noite, no silêncio que vinha dos campos, a Andreza repetindo a sua promessa. Abriu a janela, lá embaixo, se esvaindo, aquela tripa de rio. Ninguém tarrafeava. Lá estava a Folha Miúda, debaixo dela a Andreza fazia de conta que morava, estamos na nossa casa»; de barro os seus filhinhos, e agora, se é só uma sombra, podia voltar? A mãe enganava, todos mentiam? Saía do chalé, rodando os olhos, a noite soprava quente. Piava. Sapo na boca de cobra? Que-que se mexia em cima da Folha Miúda? De Andreza não se falava.
Belém sumia-se, Libânia, Antônio, os Alcântaras, sumiam. Andreza subia na pororoca, entrava no reino das formigas, Andreza no mastaréu do barco, ali na casa do tatu, aqui no ninho do japiim, pião virando na palma da mão, no assustar-se a iraúna no galho do jenipapeiro, Andreza na correnteza da vala... De dia, perguntar 14 não perguntava. Adotou um disfarce. Andreza era assunto só da boca pra dentro. Teria crescido tanto aquela arisca? Mudou num relâmpago? Da casca do ovo saiu voando?
Ouviu bater no chalé. Ela!? «D. Amélia, olhe, mandubé.» Um menino com a enfiada de quatro peixes e uma piranha de boca aberta, os dentes, os dentes de Andreza sangrando-lhe o peito Um vento de repente escancarava a janela? No pulo do gato quebrou-se o copo? Um redemoinho no cimo do ingazeiro? Andreza não era, Debruçou-se no poço do quintal, a água funda, um olho de zombaria. Andreza lhe feria no osso. A falta que dava! Esta fome de ver a desfeiteira, tudo que lhe cortava o sono, lhe tirava estas lágrimas ao pé do algodoal brabo, o que era? Qual a causa? Andreza não quis aparecer, me expliquem, quem me explica? Aqui, rente da cerca, ralhando debaixo das folhas, este-um, o sapo, queria explicar?
No corredor o rastro dela, os pés na escada, sua voz feita uma borboleta que sempre foge às nossas mãos, lá vem, lá vai, escondeu-se na telha, a voz, o passo, ah, venenosa, endemoninhou-se, s6 a Inocência, agora empregada na Madre de Deus, poderia ensinar a oração que amanse, faça Andreza chegarzinho bem perto ameigando a voz: Pois foi, Alfredo, uma saudade... pela luz divina que foi, eu tive.
Santa Rita de Cássia, do meu pai, imagem que nunca veio pelo correio mas devoção sempre deste meu pai nem que seja no catálogo, se condoa e traga do Por Enquanto aquela braba, sumida pelo diabo, filha adotiva das onças, ou já novilha? Quem sabe não anda pela fazenda fantasma dos Meneses catando os ossos do irmão assassinado?
Mas indo no trapiche, ficou debaixo do jenipapeiro, remexendo as folhas do chão, cheiravam os jenipapos: até invejou o fumar de um vaqueiro ali de cócoras entre camaradas: chapéu de timbó, aba larga e cerigola puxava o trago como se sentindo longíssimo. Assim valia fumar para encontrar Andreza, agora que nem no caroço de tucumã ela está. De repente foi ouvindo que andava pelo Por Enquanto uma pequena em cima de cavalo em pêlo, na malhada, na garupa de vaqueiro, comia nas trancas do 15 curral a mal-assada das ferras, dum bezerro curou a bicheira. Cabeça tinha. Ia longe. O vaqueiro estoriava, abrindo um jenipapo mal maduro, como se abrisse aquela de quem falava. Alfredo tão zinho sentiu-se, ah, perdia a sua musculatura estudando em Belém e a endiabrada a virar moça nos atoleiros no meio de onça, dela a escola era um lombo de búfalo, ali em cima do que faziam os garrotes nas vacas, o porco nas porcas o cavalo nas éguas? Uma pura perdida? O vaqueiro contava numa admiração tão satisfeita, nos gabos, e comendo o jenipapo. ah que ela era, era! Alfredo, nos olhos do falante, olhou bem fino, como se dentro dos bugalhos oleosos do caboclo visse ela, aquela tão gabada, dali a quisesse tirar e aqui fora lhe dizer: te piso, viu? Debaixo do meu pé, te deixo. E aqueles dedões do vaqueiro que reviravam boi, a semelhante munheca bem criada, já teria tocado nela .segurado pela cintura, como segurava o rabo das novilhas e abria o jenipapo? E quem sabe, façam uma idéia, na ilharga dele, a assanhada bem se rindo, fazendo parte: mas não faz, Mondoca! Eras! Teu apresentamento com outra! Eu. não, vê lá! Se outros não ligo, jamais tu, te mira, me larga, mas é!
O vaqueiro desabotoava um riso de uma dentadura de tão bom osso. No luzir da risada a cara de Andreza. No gume daqueles dentes o cangote da selvagem. E parecer que Andreza dentro do vaqueiro se metia, que este, para sempre, dono-dono dela ninguém mais podia duvidar? Ela brincava de se esconder nos olhos de Mondoca, na mão do domador de poldros. Saía das palavras do vaqueiro a voz da arisca e logo recolhia-se debaixo daquele couro alazão de cavalo. De Andreza o vaqueiro tudo sabia, sabia?
Correu que correu pela beirada do rio, de Andreza nem sombra? Mais nunca?
II
V
Aquele fim de baile a bordo, semelhante noite, teria podido adivinhar? Sua intuição sabia? Quase é a mesma vertigem, ainda hoje, também por saudade, por desespero. No seu peito, aquele porco, um caititu, devorou-lhe a razão, o sentimento? Ah repente sem socorro, tamanho redemoinho.
Saía de bordo muito suada para mudar em casa — ali defronte — as roupas, ou tomar banho? e com certa delicia de andar só, aquela hora, no sereno, fruindo-se a si mesma. Tentava tirar de si um desgosto, ou raiva, ou simples gastura contra Antonino Emiliano, Este, pois não inflamou o pé, perdendo o baile? Entra em casa sem ruído, varou o silêncio, escuro, do casarão, mudou a roupa, meio entretida ao espelho na sombra, mais com o efeito do vestido que o rosto, saboreando o estar bem só, com as músicas de bordo, a insistência do comandante e dele, esquiva e quase curiosa, mas sem um pressentir; assim na sombra, neste vestido, uma outra pareço? É o sossego este, aqui fora, em mim nem tanto. Pelo sossego levada foi até o quintal — por que foi? — Quem a levou? desceu, espiou, escutava, e de repente, recua, avançou, um rumor, gente? um gemer? onde, onde, ali debaixo das bananeiras? Porco? Carneiro? E mais um passo dá, não, não, não é o que vejo, o que ouço, não via o que via, pai do céu, meu Deus, me deixe soltar meu grito, antes lhe tirasse a vista, mea Santa Luzia! Virou o rosto, como se alguém lhe tivesse cuspido, outro instante a ver e ouvir e cega, surda, ficasse, 84 num vôo estava no corredor. Debaixo das bananeiras, O grito não soltou, o ah! ah! engasgado, lhe abria, petrificava a boca, gelou o peito, os pés lhe prendeu, zonza, cozida na ombreira da porta, agora no terror de fazer bulha, era? Que se passou, Celeste, que se deu, que estás cada vez mais gelada, tiras os sapatos, enfias o rosto entre dois travesseiros, logo te calças, corres do casarão escuro, incerta, meio espavorida. No caminho da casa do Antonino Emiliano? Recuas, ainda tonta, ou mais, vontade de vomitar, nisto a música do baile a bordo, lá está no trapiche o vapor iluminado. Sentas na quina da calçada da igreja e rompes num choro lento, de menina, a menina que desta vez saiu de ti para sempre, as mãos entre as fitas do vestido branco, com as fitas enxugas o rosto. Depois, boquiaberta, na sombra da mangueira, sem saber o que fez, o que fez, a cabeça no chão, ou debaixo do chão, queres entrar na igreja. Fechada, Queres bater os sinos para anunciar aquilo que te parece um horror? As bananeiras cobrem a igreja, as folhas fecham o rio, debaixo das bananeiras o bode e a cabra, o porco e a porca, sem ser vista viu. Sabia. Cravou os olhos nos dois de focinho com focinho. Que viu, viu, sabia ver, tinha boa vista, estavam a um tiro de espingarda. Debaixo das bananeiras. E esta lhe parecia a sua mais bela noite e já perdida. O namorado, que ia dançar com ela pela primeira vez, à vista de todos, as duas famílias consentindo, deixa que a aranha, no mato, lhe ferrasse o pé. Picado por aranha choca, a ferrada, por isso, dói que dói muito mais. No baile não pode ir. E Celeste foi, mais por raiva contra Antonino, por não perdoar-lhe a ida no mato, que por gosto. Eu bem que disse a ele: hoje tu não vais correr no mato, guarda teu pé, te lembra de amanhã. nosso primeiro baile e a bordo. Antonino deu de ir, foi. descalço, atrás de tala para a gaiola. A aranha, das chocas, não perguntou, marcou o pé, ah queimadura! ah que inchou! adeus o par no baile a bordo. Assim, Celeste, dançou por dançar, sim, dançar gostava, negar podia? Nunca se proibia nem consentia que Antonino lhe proibisse. Mas lhe deu de sair de bordo onde quente estava, ir àquela hora, o luxo de mudar roupa, espairecer na noite, sozinha por um gosto: ao menos entrasse falando alto, pisando forte, batesse numa cadeira, cantasse como cantava.
85 Ergueu-se da raiz da mangueira, sentia o sereno, já menos aturdida. Aranha choca. A ferrada rebentou não no Antonino, aqui dentro, não foi o pé, fui eu. Aquele casarão, ali defronte, de lepra se cobria, debaixo das bananeiras, os porcos na cama; correu para a bordo, como se fosse partir, o navio a largar, deu o passo no portaló, o tempo de ser puxada e a cintura enlaçada e aquele primeiro rodopio no salão, e valsa em cima de valsa, era eu dar um suspiro o meu par suspiro e meio, agora longe-longe das bananeiras, voava. Invisível o cavalheiro, a dama levava o seu baile para o meio do rio, soalho macio era a maré agora seu salão, onde se banhava aquelas tardes tio ontem: no mergulho, abria os olhos para ver nem que fossem os próprios sonhos, suas mãos nadadeiras, as coxas e seu rabo de mãe d’água, aquelas tardes de tanta moça nua na enseadinha do rio, felizes até a boquinha da noite brincando juju nadado e mergulhado, quando então as mães vinham chamar ou mandavam as empregadas e os meninos gritar seus ralhos — olhem, meninas, candiru se enfia por dentro de vocês, suas acesas do diabo! — Lá bem longe na sombra do rio, passava uma embarcação de pescadores, rapazes da vila, e seus gritos deles homens caíam em cima delas como se já fossem os próprios em pessoa, e os bandos de periquitos e japiins no aturiá onde, entre ninhos, pendurávamos a roupa? No soalho d’água borbulhando de cardumes, dançava a sua valsa de peixe, espuma e sementes. Meu cavalheiro agasalha os camarões no meu cabelo e piso os remansos com os meus sapatos brancos. estes chegados de Belém no «Deus te guarde», aquele dia justinho para o baile e lá me vou, Cecé, com o meu vestido de ar, os peixes me atando as fitas, eu volteando nos rebojos e correntezas do rio, lá me vejo em cima dos miritizais, na testa alva de capuchos da sumaumeira, em volta daquele pescoço comprido do açaizeiro cacheado que sempre se vergava, muito galante, diante de mim; lá me vou eu pras as fazendas, valsando sobre igapós, lagos, cemitérios dos índios, em meio do laço no ar que os vaqueiros me atiravam, cobrindo com a roda do meu vestido branco e a chuva de minhas fitas os grandes brabos negros búfalos do cerradal. Valsando em cima das malhadas adormecidas e do sono e faro das onças e logo, entre os bandos de garças, com o penacho 86 do gavião real no coque do cabelo, os ventos ariscos da baía do Marajó debaixo de minha saia; enfunei minhas plumagens e meu cavalheiro, faço o meu baile nas águas grandes montei naquele cavalo freio de prata e crina dourada que sobe as alturas de Monte Alegre, o navio subindo. Manaus. Solimões, o comandante, comandando nesta roda de leme que é este meu corpo, o navio feito escaler dos serafins do Círio de Nazaré, as cidades com seus arraiais embandeirados e suas enchentes de rio, as vilas cheirando a febre e a baunilha, os portos de lenha, castanha e um São Bendito esmolando, o urro dos bois na maromba e o silêncio dos caçadores no só Deus quem sabe do mato, o lodo e a aninga desovando ilhas no calor das marés e no cavalgar dos peixes-boi, a rabuda arara carregando no bico a cauda do vestido de baile, o baile da Celeste Coimbra de Oliveira, família de nome no Muaná. Voando me vi, cega entrei, caindo no camarote, pesada de suor e da vertigem.
Nunca ela soube nem ninguém ou quem souber que explique. Mal sobre ela se fecha a porta da cabine, a mil léguas, a mil anos da terra, da família, de si mesma. o tempo esvai-se, como se o navio só estivesse esperando que ela entrasse no camarote e logo largando por conta própria, varreu o baile do salão, jogou n’água o baile inteiro, o telegrafo soou, um apito precipitado, longo, breve, tão dentro do camarote e morrendo tão longe, o resfolgo da máquina, algo confuso, estrangulado, pressentido, suposto, como adeuses, apitos, a banda tocando no trapiche, foguetes, de repente tiros, os gritos da mãe, da família, de Muaná, de mim mesmo, Celeste, olhando o olhar de Antonino Emiliano, de pé inchado, na escotilha — pára, pára, esse vapor, tapa o rio! — e o braço de Antonino Emiliano me apanhando como pegava o pássaro tem-tem fugido da gaiola e tudo subitamente se escoando num silêncio, a brusca, escura solidão onde Celeste se despencou, suada e gelada, a bordo do «Trombetas».
Dum sono é que não tinha acordado, não. Duma embriaguez? Nunca bebia e o que provou a bordo foi um licor, bem inocente, das mãos da Maria do Céu lá da Ilha. Ou lenço que cheirou? Lança Perfume? Também não. O miolo em volta? A palavra do homem? Tinha mesmo era 87 acordado do baile a bordo dum fantasma, este navio, que agora navegava silencioso, silencioso como se viajasse dentro da boiúna, a cobra. Ou ela se sentia tão zonza surda assim, de não ouvir os movimentos do vapor, trancada na cabine? Seu vestido de asas já não era mais que uma tarrafa com o peso de seus chumbos e ela dentro, como um peixe, as fitas espalhadas no beliche que nem escamas e sua mão tremia escrito aquele passarinho que apanhou debaixo da goiabeira, comia goiaba, balado foi, logo expirou. Mas tudo era ainda a vertigem, o vôo do tempo, aquele braço na cintura, a mão do comandante, segurando esta roda de leme, e o vento que lhe fecha em cima das costas a porta do camarote, prendendo-lhe por fora as pontas das fitas. Foi o homem que me atirou ou eu que o fiz atirar-me aqui? E que dirá o homem quando voltar e abrir a sua cabine e que farei eu, meu Deus, e ele ao ver-me aqui, à mercê dele, sem socorro, nua nesta tarrafa com seus chumbos, nua em pele e em alma? Via-se no espelho, ali na primeira claridade do dia, parecia do espelho a luz que entrava. Era o seu rosto, era? Antes o próprio medo em pessoa que um rosto, ainda menos o dela com uns beiços derretidos de estupor. Medo, tanto, que lhe inchava as pálpebras, com aqueles cabelos não mais dela, malucos, os grampos caindo. E seu olhar, que até mudava de cor, perdia o seu jeito de ver. Embola a frente do vestido, cruza os braços sobre os seios que lhe doem. Põe a mão sobre o coração, como se fosse nele encharcando a mão bem fundo. Sim, agora, ela escuta dentro do peito é o próprio navio, a bater a sua máquina, revolvendo com a hélice as entranhas. Coração, te desembesta, leva o vapor a todo fogo, queimando esta lenha e este carvão que carregou naquele trapiche atrás da casa, embaixo das bananeiras. Seu coração? Mas a modo que este-um fugia do peito. lhe dizendo: não estou mais aqui, Cecé, não sou mais morador desta casa, deste poço, não fui eu que te atirei neste perau. Meu lugar é no Muaná, na enseadinha do rio, na casa dos azulejos, nos encontros antigos, proibidos, com Antonino Emiliano; ou quando sozinha, sentada no último degrau da escada do trapiche, rente d’água, fazias de conta que viajavas. Tinhas pelo Amazonas aquela curiosidade bem inocente, que ainda não tiveste pelo Rio, pelo Sul, só 88 mais tarde pela Inglaterra por causa do navio inglês a Muaná chegado. E vias no teu mapa a frota dos teus gaiolas Solimões acima, o vento te trazendo dos castanhais os ouriços da tua safra, as tuas plantações de guaraná de onde ouvias a voz dos índios chacinados, e dos teus seringais vazando leite sobre os porões, aquelas tuas estórias e viagens, tão presentes no teu tempo de menina, que diziam das fortunas e desfortunas, dos vestidos de Paris e dos flagelados do Ceará, brinquedos da Alemanha e os curumins defuntinhos no banco das canoas, artistas de Portugal e assassinados do Acre, Manaus nadando em champanha e no sangue dos seringueiros, tudo tão longe, de nunca se apagar, embora apagado para sempre. A visão, essa, do Amazonas, colhida na infância, nunca se desprendeu dela. Nos teus sonhos atracavam os navios cheios de tucanos e araraúnas, .no caboame saltavam os macacos, nos porões cresciam os caranás e lá do fundo, espiando, os sucurijus gordos. Mas seu coração lhe dizia ainda: agora, nesta viagem, quem te bate aí dentro, não sou eu mais, quem te bate aí no peito, é um porco do mato, um caititu daqueles que te assustaram tanto na fazenda, peiados, espumando contra os cachorros. Teu coração não sou mais. Teu sangue já não corre mais em mim, que esse teu de agora, me seca, me põe cinza. Sou daquele do anel, te lembra, te lembra. Boa e bem menina, eras pernuda, roedora de unha, mas mijavas, de má, em cima das plantas de tua mãe. Uma noite, brincando de anel, meninos e meninas. na vez de dar o anel, Celeste a quem logo deu? Foi roçar na palma da mão do segundo menino, aí soltou o anel e gaguejando: .... não diga nada a ninguém» tão assustada, sem voltar mais ao seu lugar, a culpa em pessoa, na ilusão de esconder-se nas costas de uma colega, e as meninas ,estas, gritando: ela deu o anel foi pro Antonino, o anel está na mão do Antonino, isso é um puro namoro. mas ah! Espera que d. Teodora vai saber. Cecé roeu sua unha, saiu da roda, beliscou duas, olhou-que-olhou feio para o Antônio Emiliano que devolvia o anel, chorou escondido, uma semana mal-de-morte com ele. E que aflição quando o Antônio Emiliano caiu de catapora! E aí- foi que ouviu da irmã: mas, .tu, Cecé, és uma arara. Olha, eu, que fosse eu, eu dava o anel, ficavazinho quieta, correndo a 89 roda toda, bem com a mea cara seca. Nessas coisas, minha amorosa, a gente se disfarça, uai! Ah minha irmã Idalina, eras tu que devias ter visto o que vi debaixo das bananeiras, tua esta passagem no «Trombetas», tua esta vertigem.
No camarote, descalça, arrastando o vestido de baile, agora de chumbo. Baile, Antonino Emiliano, bananeiras, o instante do vôo, descosiam-se, misturavam-se. A modo que só ela só viajava no navio, trancada na sua fuga, partindo para aqueles lugares imaginados e desejados quando menina. Navio visagem? Ah, era. Ria-se, queria rir mas rir alto, um rir rouco. Não contavam desses navios, de moças embarcadas sem saber como, sem nunca mais se saber delas? As velhas tão verdadeiro contavam, cheias de uma tal razão, jurando pela luz divina, não queriam ter salvação se mentiam. Podiam também acreditar que ela, Celeste, era, agora, a escolhida desta viagem, viajante do navio boiúna, a moça que sumiu de um baile a bordo no porto do Muaná, aparecendo na baía de Marajó, naquela carruagem de ouro puxada pelos cavalos marinhos. Por que então descrer de um malefício? De alguém que fabrica o mal, tempera a inveja na vingança? O mal, enfim, de mim mesma, que está em nós, no nosso âmago? Podia ter chegado em cadeia o malefício. Primeiro na teima do Antonino, de buscar tala, depois o pé do rapaz, à noite o repente dela de ir em casa àquela hora mudar roupa e sucede que sem a menor necessidade desce o quintal e ouve um grunhido. Porco? Carneiro? Sapo? E olha para o lado das bananeiras, olha, depois da visão, outra revelação mais que uma praga, e olha, e em vez de correr ou gritar, correr para a casa do Antonino Emiliano ou dos parentes, corre para o vapor, embuchada com o seu grito, e logo à sua espera aquele braço que a puxa para dentro... Não era? E lhe vem o horror de sentir-se traída ou roubada ou rejeitada pelo porco, aquele das bananeiras, não e não, mas por que sentiu? por que abriu a veia e nela gotejou também esta peçonha? Certo é que dois dias antes um espelho se quebrou no quarto, sete anos de atraso, o primeiro começou?
Experimentou a porta do camarote, fechada a chave por fora. Bateu sem força, como voluntariamente entregue àquele encantado terror, recuando e voltando, alisa e ampara 90 a cabeça na porta. Deita-se, embrulhada no vestido. Ou a assombração havia se dado unicamente em si mesma? Teria bebido a peçonha que a cobra, aquela, guardara na folha, enquanto, debaixo das bananeiras matava a sede?
De pé, sentiu-se mais alta, mais magra, as veias do pescoço ao toque da mão salientes. O vestido, velho bastou uma noite, pesava. Cheirava a baile, que baile? Aqueles cheiros para sempre deixados, o odor de sua adolescência no quarto de onde lançava, como pistolas de fogo de vista, os sonhos sobre o mundo; cheiro, suspiro e ressono das irmãs ao lado, as ervas de molho recendiam pela madrugada, o cheiro das bananeiras... O vapor, neste momento, fazia sentir a sua máquina, soturno. Puxem a carruagem, cavalos do mar, (as velhas contavam), me leva, carruagem; não de ouro mas de breu fervendo, esta carruagem puxada pelos porcos, os. dois porcos debaixo das bananeiras. E este cheiro de vapor, cigarros, ali o dólmã, aquele foto de crianças, filhos dele? Tudo aqui é a presença do desconhecido, do habitante desta solidão. E ali pendurada uma plumagem dos índios. Meu Deus, estou mesmo viajando? Aonde? Ainda ontem tão da casa dos meus pais, Celeste Coimbra de Oliveira, tão Cecé. É verdade que seus sentimentos para com Antonino Emiliano perdiam um pouco daquele fervor, aquela obstinação, caiam em quase súbito fastio, um pouco desapontada? Bem-bem, não sabia. Tiveram consentimento para saírem juntos, conversar, dançarem. Como recebeu a comunicação dada pela mãe? Num vago espanto, essa surpresa, que queria tirar de si, de que seriam dois a mais na roda do namoro no arraial e no trapiche. Antonino Emiliano, por isso, se despia daquelas qualidades que ela pressentia ou imaginava nele e o toque do proibido e do risco para sempre deixaria de soar. Quantas vezes, no mesmo baile, ficavam separados nem se olhavam. Dava-lhe repente de atravessar a sala, dizer: Vamos, Antonino, efetivo comigo. Ver quem vem nos desapartar. Ferrava os dentes, dançava, olhando pelo ombro do outro cavalheiro, o Antonino Emiliano pelos cantos. Ficava um pouco à espera que ele ousasse tirá-la... Só assim por um descuido, nas artimanhas, se entreolhavam; sim, iam os recadinhos mandados um a outro por mão e boca de amigos e amigas: pouca conversa com a Gilberta, que tanto 91 conversam? Ainda mais esse aborrecimento, te sossega. Um doce, escondido, ela mandava. Assim nos bailes. As duas famílias, ali presentes, se cumprimentavam cordial, com as delicadezas do velho ódio, desprezo, zombaria, muitos votos de mútua desgraça. Antonino e ela desfrutavam a comédia de não se falarem nunca, fingindo um fingimento que todos sabiam bobo. Lá fora, nas suas cautelas, fosse como fosse e onde, sempre se encontravam, que assim foi sempre desde menina. E veio, sem esperarem, o tal consentimento. Valia tão tarde? Depois de tanto vexame, fosse contar os sustos, tanto me esconde, esconde? O consentido é aborrecido? Esvaiu-se aquele encanto? Para agravar, Antonino Emiliano deu com o pé numa aranha choca. E só posso me explicar neste navio pelo . que vi nas bananeiras? Isto não é o bastante? Mas é uma explicação? Fugindo assim não me tornei cúmplice, não agravei tudo, calando o que escutei, vi? E se tivesse falado? Falar ou fugir, qual pior? Melhor não foi meu sacrifício? E será sacrifício este meu, ou minha soltura, não mais Coimbra nem Oliveira nem Cecé, só a Celeste? Vergonha menor? Ou simples sina, cumprida, desta vez diante do público, no maior grau, misturada de abusões e lendas, ao avesso da outra sina cumprida, grunhida, embolada debaixo das bananeiras? E esta, das bananeiras, quantos anos repetindo-se? Quantas noites no mesmo grunhir debaixo das bananeiras? Melhor será rir daqueles retratos no sobrado, poindo-se na sala, vissem o que atrás deles se escondia. Rir da vergonha da família no meio da rua, na porta do mercado, na boca do forno da padaria: Cecé fugiu feito uma qualquer ordinária. E o namorado retirando do pé os panos que a velha Inacinha besuntou e para que a benzedeira passe e repasse na inflamação o raminho de arruda, benzendo o azar também. E rir de si mesma e logo ao abrir-se a porta do camarote correr e atirar-me n’água, pronto, acabou-se. Entrasse agora o comandante, sua barba, a respiração, entrando, o primeiro passo e o olhar dizendo: minha filha, que remédio senão... Ali estavam as três crianças na fotografia. Que ponha o pé aqui dentro, digo-lhe que foi uma aflição que me deu, faltou o tempo de pensar, me mandasse de volta, me fizesse desembarcar numa beirada, prancheasse 92 numa ilha e aí saltar, ai me solte e me de febre, e se abram uns sete palmos de água, na minha cova de água, todas as horas me afogando. Me arrependi? Mas, e este alívio? Causei, estou causando, causarei vergonha, desgosto, pena? Arre! Meu pai, aquele sempre retrato, desprende-se do cabide, da beca, do seu silêncio? Não é um castigo? E assim viajando, oculto o mal maior. Aquela outra vergonha, que se presume secreta e por isso mais suja, em que toda a família apodrece por dentro, debaixo das bananeiras. Lá está o grunhido, os porcos atrás dos retratos na parede, sob as cascas de tinta. Antônio preferiu arriscar o pé no mato a dançar com a namorada no amém das duas famílias? Pois trate do pé e do logro. E quando se esboroou debaixo das bananeiras aquela ilusão de família, a casa dos azulejos amarelos, vertigem ou não, sina ou ordinarice minha, por certo de herança, só sei que me vi foi no braço do comandante. Aquela noite a bordo era a sua noite, que Antonino Emiliano não adivinhou, mas decifrada pelo comandante. Ia por a mão na borda e em vez do navio a mão do homem. fie devia ter lhe Visto o rosto transtornado, nos olhos dela a dura resolução sem apelo. O instante em que tudo é permitido, sua cegueira. sua fúria, o saboroso inferno. Antonino Emiliano, o pobre, este foi mais um no lixo amontoado debaixo das bananeiras com os velhos retratos em cima. E vem, aquela mão. aquele hálito de fumo, álcool, caldeira e tombadilho, de muita viagem e muito mundo, precisamente a voz da sua noite, a única voz que a chamava. E ela não dançava mais ao som da pobrezinha banda de música regida pelo maestro Samico seu bom compadre, antigo oficial da Força Pública. Os músicos, quase todos compadres da família, banda tão de dentro de casa, tocavam aquelas alvoradas nos feriados e dias santos tão saudosos que ela acordava tão alegre, um amanhecer que saía de dentro do peito, um acordar de passarinho; era na frente da Intendência, defronte das casas de família de posição e posse.
Ela já não dançava agora ao som de sua comadre banda municipal e sim ao som desta máquina no bojo da boiúna, a Deus ou ao Diabo se entregava. E onde esta baleia me vomita?
93 Não tivesse navio a seu alcance, aquela mão esperando, e teria saído correndo-correndo pelos caminhos por terra e igarapé, até onde as pernas iam, gritando para si mesma:
Celeste, onde estás, onde vais, ouve o jacurututu, olha o tamanduá bandeira, te lembra quando tu eras menina, fugias de raiva, te escondias no folharal e não demorava vinhas de lá aos gritos, sainha em riba até o umbigo, coberta de formigas de fogo? Assim estou agora, não mais menina, mulher.
... Ele dirá: Moça, vá pra casa, vou lhe desembarcar, lhe mando de volta.
Pobre mocinha eu como se inda fosse eu a mesma de Muaná, a inteira que fui, era, hoje, não. Eu devolvia, mandada de resto, recusada mesmo, depois desta viagem? Celeste, o comandante, depois que entraste, nem te tocou, desapareceu, sumiu. Inteira estou de corpo, sim, mas neste corpo não está mais a moça do sobrado, a Cecé que topou aquilo nas bananeiras, a Celeste que ia casar com Antonino Emiliano. E quem está em lugar dela, quem?
Logo que me viu no camarote, me deixou, me fechou. Saiu espantado da própria ação, de mim, do próprio espanto dele? Que importa, foi como se tudo tivesse acontecido. Neste caso, é mais pecado a intenção. Sim que o comandante foi cavalheiro, foi. Mas, afinal, esta coisa que me partiu espumou, berrou por dentro, pedia um cavalheiro? Fosse Antonino Emiliano! Que este, sempre, nos encontros, sempre queria se afoitar, forçar as duas famílias a não terem outro remédio senão casar-nos. Quantas vezes, não reinou e eu: Que te deu? Mas sossega, eh! Te enganaste com esta, rapaz. Tu não és Pelágio nem eu a Anália. Meu abraço? Meu beijo, A mão na cintura? Vá lá, não muito. Eu tenho muito juízo. O resto só marido e mulher, depois do véu e grinalda. Me acontecer feito Anália? Pois não era o próprio Antonino que contava? Antonino, de bocu, de palavra, gostava de me dizer das intimidades dele com os colegas,- fazia isso talvez, para que eu fosse amansando, achando natural, não acontecia com muita moça? Antonino, no que via, vinha contando, na maior cara lisa, esses homens! Me dava de. repente um tal 94 abor|recimento dele, não entrava no meu genio tolerar e ao mesmo tempo um prazer porque me considerava assim diferente delas e o meu namorado podia bem dizer, se orgulhar entre os amigos: essa, ai, que sete chaves! Rir, gabar-se, de mim, um não nasceu; rir como se riam das desafortunadas, aquela Anália? Anália. A pena que sempre me dá. Tinha o rosto bem composto, vistoso o colo, a cintura, a perna. Moça de família baixa, sim, mas sempre aceita nos melhores bailes, entrava pela porta dos fundos da sociedade, freqüentando altas famílias. Então foi o Pelágio chegando em férias, aquele rapaz de sua estampa e atrevimento, quebrava fraque em Belém, a apanhar o que queria com um leve aceno de mão, suficiente um olhar, uma palavra. E Anália vem e passa pelo olhar do acadêmico de direito e este apanha a mão da inocente, os dois efetivos no baile, os dois nos passeios de canoa, enfiando-se cerradal a dentro até vararem na praia, voltavam de lá cheios de mangabas, Anália com areia no pescoço, o par de cada instante, aquele cartão postal andando pela Areinha, beira-rio, debaixo das mangueiras, no luar. Eu quis correr: Te guarda, filha de Deus, que este-um aí, por dentro... Mas é meu bom costume não meter-me. Eu sei dizer que o Antonino Emiliano viu, foi uma tardinha, a canoa azul e verde do Pelágio, amarrada no paricazeiro, a maré enchendo. Debaixo do paricazeiro, aqueles dois na embarcação. Antônio Emiliano fazia que pescava, muito oculto, no seu casco debaixo dos cipós folhudos, perto das mamoranas. Logo recolheu o caniço, risca na maré, mais que depressa, para cruzar a canoa do Pelágio, antes que esta aproasse na beirada. Então, de pé, no casco roçou rente da borda da embarcação e viu: Anália, no banco, o rosto na mão, a saia ensopada como se tivesse se cortado. e no fundo da canoa, no meio das frutas do paricá um sangue. Pelágio fazia sinal para Antonino Emiliano: o que vês, não viste, bico-bico. Anália, esta, a cabeça era nas duas mãos juntas que tremiam. Anália, Anália, que ia até Belém nos melhores clubes com as altas famílias, com aquela sua boa parecença, uma cor de flor na pele, uma beleza de muita formosura. Tão manera no dançar, sempre dada, como se tudo estivesse ao seu feitio, que nem cana 95 de leme, pra onde a gente quer, ela vira, agora sangrando na canoa do Pelágio? Ah esta sangria comigo? Me levar na pescaria? Era, se eu fosse. Anália, a panema, caiu por sentir-se sempre demasiado feliz, de nunca saber seu preço, sua maciez de tão mansa, não era uma oferecida mas de nunca dizer não, pois se dar era sua índole, a doação em pessoa. Mas eu? Eu, bezerra dos rapazes na fazenda, égua mansa, eu Anália? Conhecer meu corpo só depois do padre e do juiz, aliança no dedo; mesmo assim, por uma vergonha, não deixo meu marido me ver intima na claridade, me depenar que nem marreca, me olhar como se avalia uma vaca, isso? Era uma vez, não. Essa de sair numa embarcação com Antonino Emiliano nem que me rogassem praga. Longe dela o paricazeiro. Então o seu mais secreto na água do fundo de uma canoa, vem um cachorro de beirada e bebe? Os outros, ali de parte, só apreciando o açougueiro sangrar a ovelha debaixo do paricá? Pelágio, este, noutra semana, rapaz de família, suas posses, seus estudos no sul, se botou, as pernas no mundo, comeu, adeus. Levada a Belém; Anália foi vista tamanhona da barriga. quem viu, viu ela ainda de ar espantado, as mesmas mãos no rosto, assim não contavam? Alguém que saiba, me de noticia de Anália, que esteja bem, quem me trás? Mas tanto me julguei, que me atiraram na cara aquelas bananeiras. no ouvido aquele grunhir e na folha esta peçonha que bebi.
O «Trombetas» navegava, real; as velhas do Muaná iam inventar que não. Anos depois, contariam da moça Celeste levada dum baile a bordo, agora na carruagem de ouro sobre as águas. Adiante, meus cavalos marinhos. O barulho do «Trombetas» era um silêncio a mais naquele geral silêncio em que os cavalos iam para o fundo e a carruagem virava espuma.
Celeste cabeceou, sono, cansaço, como é escuro lá em cima, dizia a pastora da velha estória ao limpador de chaminé. Só nos resta sair por esse mundo grande, dizia ela. Como é escuro lá em cima. E a estrela, quando vejo a primeira estrela? Mas eu, Celeste, não fugi com o limpador de chaminé, fugi só. O velho chinês de porcelana se quebrou. Aqui no escuro, oiço o lenço assoar do comandante e este cansaço ou cochilo onde a pastora salta; agora 96 é a noiva, de véu, em pé na montaria no rio; bolou do mangue. nasceu da maré, de pluma e pena de garça o vestido de noiva? Assim Anália sonhou: meu casamento vai navegar pelo rio. Do Muaná, depois do juiz, vou dar os doces na outra banda, na casa do meu tio Cipriano que sempre quis me ver de véu e distribuindo a grinalda na varandona dele onde pendurava os couros da caça e a tanga de barro que antigo adornava a vergonha da índia. Uma vez, luar, Anália saiu do quarto, em pêlo coberta no lençol, apanhou a tanga e se adornou, de repente uma tontura, sentiu-se enfeitiçada, puxada para fora, fugiu, espavorida, arrepiada, era aquela tanga? Anália assim contava sonhando tirar fotografia noiva de véu e grinalda na montaria bem no meio do rio, um botão ia depor debaixo da tanga de barro.
Ah Anália! Fossem tirar tua fotografia tu voltando do paricá, criatura!
Sono, este, cheio de Muaná, meu Deus. Das janelas do sobrado descem as serpentinas e confetes cobrindo as moças da calçada e entre estas a Anália de crepom, a saia de cambraia, um diadema e o saco de confete na mão da d. Teodora que enchia a janela com o seu colo e a sua chatelene. O rosto duro, de um gesso velho, o pai; parecia presidir um júri. Um instante estourou na mão da Anália a lança-perfume...
Celeste num sobressalto, (Em baixo a caldeira chiou, vai parar?)... A mãe emborcou o saco de confete sobre a calçada. O pai, um pau na janela, tão-só naquela tarde de carnaval, frente do sobrado. D.e máscara, coberta de pó e confete, Celeste subiu, correu:
— Doente, papai?
Um não dele com a cabeça e logo se apagando alcova adentro, ela atrás, lança-perfume na mão, a máscara no rosto, aturdida de carnaval e com aquele pai de luto ao pé da folia; logo um repente de chorar, atirar-se ao pai e dar-lhe um beijo ou puxá-lo para a calçada; se deu conta que estava gastando a lança-perfume e que podia chorar sem razão ou porque sentia no pai, na dureza de seu gesso, um querer ser beijado, ou abraçado, ou pedir... Não, 97 não sabia, Debaixo da sua máscara ,os olhos ardiam, a boca num espanto. Não, não sabia. Lá da calçada gritavam: depressa, Cecé, já vamos! A mãe, debruçada, tinha uma gordura festeira, de costas para a alcova. Celeste quis dizer-lhe... mas se viu puxada para a rua, a mãe, da janela, lançava a serpentina.
Por fora a mudez das coisas e em si mesma a baía no pior mau tempo que não caia no ar nem nas águas mas dentro, silencioso, no camarote. As vozes de Muaná, a cobra voltando a procurar na folha a peçonha, não encontra e saltando desvairada. este grito no peito, lhe rói a entranha, a visão e o grunhido nas bananeiras, este caitetu que morde e espuma. Vinha de fora uma luz d’água, aquela água de sete mil rios na baía, a luz das areias e palmeiras, o cinza-azul dos matos que longe flutuavam. O navio voava? Era como se o «Trombetas» respirasse, resfolegasse dentro de mim, andasse à força das pancadas do meu peito, eu a sua hélice. O “Trombeta” seguia para as atravancadas passagens e bandas de Breves, goelas fundas retorcidas pelo mato, a cilada dos rios largos na boca e engolindo navios nas suas tripas de lodo, fazendo subir pelos mastros da embarcação no fundo as cordagens de cipó e a tripulação das guaribas. Por que não vinha o comandante? Alguém abrisse a porta! Batesse. Alguém viesse. Neste medo, vergonha, agonia de abrir a porta, sair, aparecer no tombadilho, teria ficado só? Ou desmaiada, levada a outro navio, este, sim, da boiúna? Nem lavar o rosto posso. Estou outra, eu sinto? Perdi tudo, ou ganhei? Me perdi ou ainda não compreendo? Que fiz eu mesma de mim? Eu sei? Teria perdido a conta do tempo? Algumas horas me faltam na memória, desmaiei mesmo? Gritei o que vi, grunhi o grunhido das bananeiras, invejosa de não ser eu a porca daquele porco? Delirei? Tive febre, uma febre, a boca me azedou, me doeu, ninguém me tocou? Mas não devo bater na porta, nem gritar, me deixo ficar aqui na espera, não creio que demorem muito e eu sei que esta viagem me lavou, isto aqui me faz sair de mim uma outra pior que seja, mas outra, limpa daqueles retratos.
98 Aquietou quase satisfeita, imersa na solidão da viagem. Semelhante aquelas tardes no trapiche: fechava os olhos a tempo do sol esconder-se por trás da outra margem e aí abria; aquelas tintas derramadas, ela, e não a noite, ia devagarinho bebendo, seu rosto feito daquelas cores. Estar ali, um sossego, tardes e bocas da noite, beirando o rio, tabocais, num calafrio de curiosidade e temor, a esperar que acontecesse (e logo rezando que não) pisar numa folha onde dormia cascavel, ou cruzasse, de repente, um jacurututu. aqueles sapos, tamanhos, mijando um veneno nos olhos da gente, o tamanduá-bandeira assombrador, que rabeava pelo capoeiral vizinho, sempre a deixar rastro e nunca visto, a borrifar fogo das ventas e do pelo, devorando os teus e os meus remos de saúvas. De volta, em frente do sobrado, Celeste ouvia dá mãe:
— Foste com o teu balaio de formiga dar pro tamanduá?
Com a resposta na língua — é, fui, me comeu meu formigueiro — sabendo que a mãe aludia ao namorado, Celeste passava sem responder. Entrava no salão, quanto baile, o pai no retrato, um rosto de azeitona, as roupas de óleo e poeira, as tintas da família, aquele luzimento por fora, a casca dos quadros caindo no soalho levadas, pela vassoura para o fundo do quintal onde as bananeiras cacheavam. A mãe, também na parede, gorda de cor, o beiço de azinhavre, escurecia na moldura descascada.
Foi quando a porta lento abriu-se cheirou café apontou uma bandeja de pão e um marinheiro. Acuada, no mesmo vestido de baile, tão novo na fuga e já agora encardido, Celeste cobriu-se com as mãos, feito nua, crispada. Bandeja na mesa, o marinheiro saiu, a porta bateu, O pão e o café cheiravam a Muaná. Dos azulejos o amarelo da manteiga. O bico do bule fumegando lembrava o pai a encher a xícara... Vergou-se, endureceu no silêncio, chorar não. Longo tempo foi. Viajou por onde? Ponta do Freixal? Baía do Curralinho? Ilha do Capim? Nas ilhas de Dentro? Subindo? Descendo? Fechei a porta em mim, me guardo ou me agarro a uma porta que todo pensa 99 escancarada... Longo tempo. Até que viu, cravou as pupilas, como se tivesse entrado sem ter de abrir a porta, ali de pé o comandante.
Nisto, justamente, bateram na porta da barraca. D. Cecé saltou, assustada, das suas recordações, da fuga a bordo, desembarca um momento do «Trombetas» para acolher aqueles dois, o Leônidas e o Alfredo.
Surgindo do escuro, chuva e lama, Alfredo entrou num pasmo: como, assim em traje de baile ou passeio, empoada, tão moça... Era a dona daquela barraquinha mesmo que lhe abria a porta? Por um instante, nem a d. Cecé que passeava na Areinha nem a que esperava encontrar na Passagem dos Inocentes, Alfredo viu. Sentiu-se foi numa casa de Nazaré, levado por aquela aparição. D. Celeste fazia de conta que ali não morava, cheia de seus salões, viajando longe, acima. Alfredo no seu pasmo. Era ou não era a moça que fugia ainda a bordo do vapor «Trombetas»? Ou a d. Celeste da Passagem Mac-Donald?
Mas algo amarelo de camisão saltou do corredor escuro, cabriolou em torno de Alfredo, meio curvo — estava de papeira — examinando o hóspede abanando-lhe o camisão no nariz, a levantar a fralda até a cabeça e sempre em volta de Alfredo. Este num novo pasmo, sem mais aquela d. Celeste que lhe abrira a porta, agora com esta, de verdade, que ralhava, sem ralhar, com o filho:
— Mas, Belerofonte, meu filhinho, tu te aquieta. É o teu primo. O filho do tio Alberto, Belerofonte!
Fazendo careta, apanhando o camisão, cuspindo pro lado, o amarelo deu um salto de sapo que fez Alfredo recuar até a parede.
— É da preta? Da preta, não? Só do pai? Pariu só do pai?
— Belerofonte!
Com um olhar que se divertia e se compadecia ao mesmo tempo, D. Celeste conteve o filho, abraçou-o num ralho mimado. Alfredo no terceiro pasmo. Enquanto lá 100 pelos fundos da barraca, já o Leônidas, a boca entre as estacas da vizinha, chamava a d. Romana e esta de seu fogão, gritando: sape! sape! sape! com os seus gatos, parecia esconjurar.
II
Acalanto de Lucíola. Num tal ladrilho, Alfredo abre caminho até o Barão do Rio Branco. Em vez de sair pelo boca da Passagem, prefere varar pelos fundos, dobrar a Quatorze de Março, apanhar a Bernal do Couto, respirando, batendo a lama dos sapatos na calçada da Santa Luzia. Mas foi virar na Quatorze, um espanto, um estremecimento gelou seu passo: lá de dentro do pardieiro da esquina vem vindo, eivem, se achega da janela um homem, ou visão semelhante, algo inchado, oleoso, testa de tacho, nariz e beiço de barro fresco. Parecia espalhar em toda a esquina uma sombra tão pegajenta que os passantes passavam de largo. A janela encaixou o espantalho e dele s6 era vivo o olhar sobre o Alfredo que fugia.
Ia sentindo no Barão que perdia para sempre o seu colégio, a educação que sonhou, sem saber qual ou como o antigo faz de conta figurava. Era também por vir morar na Inocentes? A visão da esquina? Belerofonte? Ou porque estivesse a ponto de querer entrar no Ginásio antes de concluir o primário? Por entre a casca do ovo, já partido, já o rapaz enfiava o bico.
As aulas corriam nem tanto aborrecidas. Alfredo sempre no Quadro de Honra, acabou enjoando, perdeu de propósito, chegou ao ponto de indagar: se eu fosse o último da aula? Não arriscou. Quando nada, tinha aquela professora adjunta, Maria Loureiro Miranda, mormente se de saia branca chegava, blusa lilás, rosa ao peito. Os colegas, comparados ao Belerofonte, bem camaradas eram. Sempre 111 bom ver, no tocar a saída, formando na escadaria, o sexo feminino, dito muito na boca das professoras, muito lido e escrito nos cadernos. As colegas de sainha azul e blusinha branca. Delas ,tão em quantidade, uma e outra, Alfredo mal distinguia. Nem mal a campainha mandava debandar e das meninas só via a revoada azul e branco e as fitinhas no cabelo, uma ou outra saia o vento queria levantar. No sexo masculino, atrás do busto branco do Barão, seguindo o feminino, ali estava de novo o Lamarão em forma. Voltava do interior, lá do Almeirim, o mesmo misterioso, dente de ouro à mostra, sempre forrado de chocolate, que distribuía. Na rua, era cheio de sorvetes, convites para a matinê do domingo, o polar sempre novo, ainda de calça curta mas tão rapaz já, que não condizia mais aquele joelho de fora nem a meia cor de café esticada até uma altura da perna. Continuava na São Jerônimo, habitante daquele palacete onde não se via o dono nunca, um rosto da família, só uma vez a criada, as mãos dela relustrando as lustrosíssimas maçanetas da porta nem um sussurro dentro nem um cão nem uma colher caindo. Em baixo e em cima, muito sérias as janelas fechadas, vidraças que nem espelhos e em que as mangueiras da São Jerônimo se miravam. E aqui fora, as grades, o portão alto, de ferro, as argolas amarelas. Noutro lado da rua, defronte. ficava o Alfredo entre aquele mistério e a casa do jardim que vendia flor, com as suas varandas em cima e em baixo escancaradas sobre os canteiros que rodeavam a vivenda. Na espera de Lamarão, bem que de Antônio Alfredo se lembrava. Me vem, Antônio, certeiro me atirar uma simples pedra no vidro tão fino de uma janela ali, estilhaçando o silêncio, bate no jarro, vira uma louça era uma vez a porcelana. De repente dar de bater a bom bater na maçaneta dourada como botão de uniforme de gala? Te abre, te escancara, palacete; atira manga na vidraça, mangueira, chega de te mirar no espelho, chega de te achar bonita, os daí de dentro só comem maçã. Nisto, o Lamarão saindo do rés do chão do palacete tal qual saía um das estórias que contam de palácios onde a mulher esconde o rosto no véu e o reino do rei vai pelas mil e uma noites a dentro. Espanado e lustrado pela criada, Lamarão trazia nos modos, no falar, no lenço branco, a delicadeza dos objetos que 112 ali viviam, não das pessoas que Alfredo julgava muito abaixo de Lamarão, mas de todo aquele secreto viver das porcelanas e do próprio silêncio ali senhor. Lamarão lhe pegava pelo braço, domingo, matinê no Odeon. A fineza de sempre na bilheteria do cinema, ao dar as entradas ao porteiro nem parecia morar naquela surda riqueza, só dizia do luxo sua vestimenta, seu ar educado e mais nada, no mais nem prosa, bastante alegre da rua e de ser amigo destezinho morador lá na Inocentes que nem água encanada tinha quanto mais luz elétrica na barraca. Uma coisa se via: daquela família invisível, o Lamarão não era, não. O mais que podia ser um parente longe, um parente de Almeirim. Quem era esse não mais menino e ainda nem bem rapaz? Nisto, o Lamarão se fechava, feito o palacete, suas origens, seus particulares, trinco na porta. Alfredo, no embaraço de indagar, por temer que fosse indagado também e ter de falar da Gentil, de Nazaré, de Areinha e da Inocentes ,do porco que ia às noites lhe fossar o fundo da rede. Ou por um fenômeno, o Lamarão morava só, com uma criada? Sendo assim, por que não mandava o amigo entrar? Receava que o amigo mexesse nalguma coisa, apanhasse um objeto, ou dentro do palacete era outro Lamarão, não mais de Grupo Escolar nem da rua, outro, na feição do palacete, por isso não podia receber qualquer-um? Com esta suspeita, Alfredo quis afastar-se dele, então Lamarão era dois? Mas este quase humilde, vinha-lhe pedir para irem juntos ao cinema, juntos devorarem sonhos na garapeira de Nazaré. Ria que ria no Odeon dos cômicos da fita, a tirar o lenço branco e a suspender a meia. Alfredo divertia-se era com a alegria do colega, a comédia dele se retorcendo com as diabruras na tela, a tudo achando tanta graça, Despediam-se no largo, Alfredo, às ocultas, ia espiando o amigo até entrar no palacete que o devorava com sua porta dourada e suas porcelanas. Lá dentro era outro? Por que Lamarão aprendia? Alfredo se indagou. Tinha de nascença uma tão sua educação. Quem vivia debaixo daqueles forros reluzentes estar no Barão precisava? Precisava aquele traje da missa, todas as manhãs e sentarzinho na carteira manchada de tinta, roída nas quinas, e ali de boca aberta, antes atencioso que atento, a cabeça um pouco pensa, como se escutasse só de um lado, a apanhar 113 as cifras e os proparoxítonos da professora? Algumas vezes, lenço na mão, parecia incapaz de entender uma silaba sequer do que as professoras rezavam, entaladas de consoantes, metaplasmos e ditongos. Não faltava a uma só aula, o primeiro chegando, sabia de cor, cantava inteiro o hino, obediente a todos os regulamentos e birras do porteiro. Uns quantos colegas passavam pelo Barão, tirando o pai da forca, pegavam o cheiro daquela taxionomia e pronto, logo-logo jogavam no veado, no nunca mais. Lamarão, não, queria sair com o certificado primário para meter num quadro na parede. Que parede? Do palacete, não, ali de quadro só as pinturas da Europa. Aquele estudo no Barão, do Lamarão, era ou não era voto de pobreza? E também de se pensar, sim: cru entrou, cru havia de ir embora, o canudinho debaixo do sovaco, virgem daquela instrução. Chamado à lição, diga a segunda pessoa do pretérito mais que perfeito do verbo haver ... conjugue o condicional — aquilo nele não pegava. Olhava para a lâmpada do teto. tirando o lenço alvo, fino, alvo, responder não respondia, o dedo na prateada fivela do cinturão novo. Tinha feito promessa de estudar no Barão? Uma penitencia? Mandado sentar, logo se abaixava na carteira, corrigindo a meia ou soprando algum pó do calçado, o alvo e engomado lenço na mão a enxugar um vago suor, a sua perturbação, o esforço de ouvir a professora, a efetiva da cadeira, esta um pouco gorda, a pastinha sobre a testa franzida, a cruz da volta do pescoço descendo-lhe por entre os severos seios de mestra mãe.
Também Lamarão nunca deu de saber onde agora morava o seu amigo. O palacete e a barraquinha se encontravam, juntos passeavam sem saberem suas origens. Uma vez, Alfredo sonhou levando a d. Celeste para o palacete do Lamarão.
Que diferença de Rabelinho, este-um alto, pele e osso, uns tons esfumaçados no canto do olho, todo dia uma roupa, o guarda-chuva no braço, sempre de casimira e calça curta, erigido em suas pernas como em dois paus. Dele logo tudo se sabia, morava na Estrada de Nazaré ali ao pé do Largo, filho de desembargador, preferia estudar no Barão a estudar em colégio, nascido criado em berço de 114 livro. O pai sempre saindo nos jornais, de fraque ou toga. Quando se aproximava dum pobre, dum Alfredo, era para perguntar: porque não está antes na oficina ou pescando em Marajá, bastava o abc, o mais não era para um qualquer. Sendo ele a gramática Paulino de Brito em pessoa, assustava. E cada vez mais ossudo e varapau, transpirando as três conjugações, arrotava os advérbios do compendio: talvez, quiçá, porventura, desferia imperativos: dize, faze, traze, tende vás... o que provocava espanto. irritação, antipatia. Até se envergonhava com isso porque ele também, imitando a professora e o Rabelinho. apareceu em Cachoeira e em Muaná, enfeitado de dize, faze, traze... A mãe, que vinha das garrafas, bateu palmas: Uai! Me diz de novo? Me repete!? Rodolfo, escuta aqui este-um de Portugal. Os molequinhos, pitiando a peixe, barro e tucumã, rodeavam ele, pediam: que é faze? E dize. Mas nos explica. Logo o Alfredo recolheu o faze, o traze, o dize, devolveu as jóias à língua da professora e ao Rebelinho, em boa mão estavam, em bom estojo.
No que tocava ao Rebelinho, as professoras tinham e não tinham satisfação ao vê-lo tão afiado na gramática quanto cego na geografia e na lição de coisas. Se arreceavam dele que dizia: «Papai, nem bem chega do Tribunal, dá-me lição. Tem uma estante só de língua portuguesa.» Elas, então, usando de cautela, poupavam Rebelinho na argüição, tinham o aluno por já sabido, arriscar não arriscavam. Como, por exemplo, a professora Maria Loureiro Miranda: mandava o Rebelinho ao quadro negro? Uma pergunta que fosse, sobre as variações pronominais lhe fazia? A sombra do Desembargador rabeava na aula, O Tribunal Superior de Justiça descia pelo pescoço do Rebelinho de gogó saliente como um til. Na hora da lição, a professora adjunta Maria Loureiro Miranda desfolhava a memória, o embaraço e a timidez dos demais, Rebelinho à parte. Só fazia era piscar para ele e, por isso mesmo, também piscava para Alfredo e o Lamarão, estes se olhando um para o outro como a dizer: entendeste? Ocasião houve que Alfredo quis falar ao Lamarão: tu não achas que essas professoras tem um falar que não é nem pode ser o delas? Ali na mesa figuravam o palco e Alfredo até se admirava: faziam tão bem o seu papel! E nesse representar, puxavam 115 palavra como no terraço do Grande Hotel, domingo gordo, se puxava serpentina. Com o giz e a esponja, riscavam apagavam denominadores comuns, ângulos e losangos. Nas cartas de redação, não se podia começar mais assim: estimo que estas linhas encontrem a senhora de saúde, ora esta, patati, patatá, choviam regras, resolvam as operações, aqui as questões da composição de hoje, sábado, ora, bugalhos! como dizia o pai. Em Cachoeira, entre as tarrafas e os anzóis, se falava em quebrados, um quilo de sal e um quebradinho. Aqui no quadro negro, nos cadernos, contando duvidosas quantidades, quebrado é numeração em cima de outra, separada por um traço. Era a fração da Antonica, a papudinha coitadinha lá da Areinha que a Deus pedia em vão para ser uma professora «mas eu quem sou eu?»
Por que não vinha a professora efetiva com a laranja e partia e dividia e falava: isto aqui é um quebrado da laranja? Fosse deste modo, se via o cheiro, a casca, o gomo, o caldo se doce, se azedo, onde é que tem laranjal, em Bragança, vem no trem? O pai, no chalé, falava de um laranjal da Itália, tinha visto, ou ouvido, não sabia onde, livro, ópera ou estampa, um laranjal, viste o laranjal em flor? Não era laranjal como aquele do seu Wolfango, em Muaná: teve um espanto mas que tanta laranjeira! E com tão tamanhas laranjas e estas combinando amarelarem juntas e um cheiro e o verde em cheio nos olhos com aqueles espinhos que diziam: aqui não pões a mão, não somos goiabas. Por certo a professora nunca viu um laranjal e dele falava na forma de números, riscos, fração... Algum de vocês já chupou laranja da Bahia, onde é a Bahia, Lamarão? Nem isso indagava a professora. Faltava laranja na aula. Uma boa aula de maracujá faltava. Em vez da laranja ou do maracujá, era: Quem em mil quinhentos e quarenta e nove chegou na Bahia? E isto dos séculos? Tempo contado em cem anos? Era, de verdade, um tempo? Mil quinhentos, mil seiscentos, mil setecentos, mil oitocentos, em MCLVX existiram, houve? No desfilar sem conta das regras definições datas e nomes, não era melhor a aula que davam os olhos da professora Maria Loureiro Miranda? Tudo nos livros e na boca das professoras fazia lembrar a palavra Maternidade na cabeça 116 das velhas parideiras do Arar!. Ensinar era palavrear? Aprender engolir palha? Alfredo não via os objetos, de que falavam as lições. O giz cobria a pedra de máximo divisor comum, volumes, quantias, Governadores Gerais, coisas do mais puro faz de conta. Ah, sim, assim Andreza podia dizer, aquela instrução era que nem o baile da Mãe Maria, tudo do muito bem imaginado sem o sal que Andreza dava. A maçã, de que saía a fração, cadê a maçã? O pão desfeito em avos, quociente e quintos, de vento era, A planta não aparecia em pessoa, nem por uma casualidade um pé de sabugueiro, denominava-se reino vegetal, tão sem raiz na terra como sem água aqueles oceanos no mapa. Em vão queria distinguir no papel o reino mineral do vegetal. Boi, no papel e na língua da professora, aparecia tão morto igual pedra, e esta mesma, na beira do rio, tapando a água na correnteza da vala, que bem viva era se podia jurar. Aquela figuração da Terra num globinho paradinho em cima da mesa, de redondez de não se acreditar, em cores, seus continentes e mares de papelão? Mais planeta Terra era o seu carocinho sobe e desce na palma da mão, no mesmo segundo à roda do sol, colégio, chalé, rio, Andreza e borboleta, e ele, Alfredo, trapezista, no arame do equador. A professora efetiva, régua na mão, repetia: a terra move-se. Mas quem, quem que acreditava? Ah tivesse um poder a professora Maria Loureiro Miranda de mover a parede, como quem sobe um pano de palco, escancarar aos olhos da aula, não no mapa mas ele mesmo em pessoa, o Oceano! Ou quando nada descerzinho então pela porta do lado, procurar as mangueiras do fundo e sem estames nem pistilo chamar os alunos: esta vocês conhecem do berço. Olhem se tem manga, quem souber subir que suba e apanhe, vamos comer umas, e olhar o caroço, olhem um ali grelando, e as folhas, que estão vendo na folha? E sentir na boca da professora o amarelume da manga. Já viram um reino de formiga todo ocupado em carregar cargas e cargas de folhas? Alfredo, aí, logo contava dos folharais de Cachoeira, do formigueiro em cima d’água ao pé do velho jacaré dormindo, depois nas rachaduras do chão quando as chuvas- diziam adeus. Quanta folha em Cachoeira e nem uma agora para a lição de coisas nem uma na mesa da professora? A folha 117 na lição não passava da língua da professora efetiva, uma língua que volteava e trazia da lá da goela, da campainha da garganta, dos dentes — um de ouro — (do véu palatal, como ali se ensinava) as folhas de faz-de-conta.
No seu caminho para o Barão, passava pelo grupo escolar do largo da Santa Luzia, o Doutor Freitas, e espichava o beiço: esse-um aí? Coitado. Não tinha a boa parecença do Barão, este, sim, recostado nas mangueiras do fundo; nem a escadaria de pedra branca nem na entrada, de pedra branca, o busto do Barão. No Barão, as janelas do andar de cima olhavam não só a lança do bonde correndo no cabo mas aquele quintal de muro com seus malvados cacos de garrafa, o sol nascendo das fruteiras. A campa do Barão retinia longe, comparável aos sinos da Basílica. O Barão fazia canto com a Estrada de São Brás, toda-toda enroupada de mangueira, Enquanto ali confronte o Necrotério da Santa Casa, sob a poeira do Largo, e a saída dos enterros, o Doutor Freitas possuía umas tristinhas professoras, de se pedir para soprar o bolor dos rostos e das almas nem comiam as criaturas? Ou suas dores, enjoadas de menino e livro? Ali de língua gasta, até se espantavam ao se surpreenderem se dizendo a si mesmas: mas afinal que é isso que ensinamos, que é isso? Nossa Senhora de Nazaré, a nossa vida se esvaiu foi na saliva. Não teve cera no Carro dos Milagres que fizesse aliviar este pelourinho. Nossa voz é uma rouquidão, Lá vão os velhos discos de beira roidinha, as agulhas do enferrujado gramofone... Por isso, Alfredo compreendia por que o orgulhoso e espanado gramofone do Padrinho Barbosa virou mudo. Lá vão, umas de chapelinho preto, outras viúvas, aquela coxo, todas vergadas ao peso daquele Doutor Freitas e dos atrasos de seus ordenados no Tesouro, sem o perfume daquelas do Barão. Por isso, Alfredo até se consolava. O Doutor Freitas era mais perto, sim, mas preferia andar uma lonjura e continuar no Barão. O Doutor Freitas era por demais perto da Inocentes. E os alunos do Doutor Freitas lhe pareciam embaciados, sempre com seus arpões contra seus rivais do Barão. Alfredo evitava passar no meio deles, ao mesmo tempo que curiosidade de olhar e ouvir como ali a fração, o substantivo, a lição de coisas, que ensinavam, era diferente do Barão, cada qual com o 118 seu faz-de-conta, outro latim, outra ladainha. Nem uma das mestras nem de longe se comparava com a adjunta do quarto ano masculino do Barão, a professora Maria Loureiro Miranda, que parecia sempre saindo dum demorado banho de cheiro. Ensinava com os olhos não as coisas de livro mas as suas, o que havia nela do mundo, da rosa ao peito, da laranja que comia aos gomos no recreio. Seu olhar dava aulas de sedução. Quem aí não tirava diploma, não saía rapaz? Alfredo a modo que lhe pedia: «Me tire logo com esse seu olhar este rapaz que está aqui dentro do ovo, quebre a mea casca com seus olhos, professora Maria Loureiro Miranda.» Quando ao quadro negro, era como se fosse escrevendo a giz os encantos que prometia. A professora Maria Loureiro Miranda suspendia o braço, a manga curta, o sinal da vacina e debaixo do braço aquele suado escurume em cheio nos olhos dos alunos. Que-um macio, que um arrepiado na voz e maneiroso andar, e ensinar era mais uma das suas feitiçarias. Vendo-a, aqui presente como professora, Alfredo pensava na ausente, esta, ela, de verdade, imaginada dentro do quarto, tomando banho de choque, ou na tina entre raízes cheirosas ou adormecendo na rede suspensa da mangueira, a cuia de pupunha cozida ao pé, ah professora Maria Loureiro Miranda. Contava um menino que a viu nadar nua na Baía do Sol e se o peixe-candiru no fundo, Deus! a honra lhe tirasse? Puxar pelos seus alunos não puxava, era verdade, queria deles um mínimo, que ela, da sua parte, dava também menos possível, para não suar nem cansar nem enrouquecer nem machucar a rosa no peito nem beber muita água, tudo maciamente, nos modos dela de tirar e por o brinco, ajeitar o cós ou os cordões, o que não se sabia, lá por baixo ou dentro do vestido, e abrir o leque e se abanar, a dizer: «que é golfo, me diga, meu bem» e logo num ralho doce: estes meus impossíveis.
Uma segunda-feira, veio de fita passada no cabelo, no peito ao pé da rosa o distintivo do Clube do Remo, tinha ido domingo nas regatas; descuidada, deixou cair do lenço o catecismo e deste um cartão deslizou para baixo da carteira do Pamplona que pôs o pé em cima. A professora, de morena, ficou rosada. Fingiu que não viu. Pamplona, 119 não demorou, pediu licença, avançou até a banca e lhe devolveu o cartão. No recreio, todos em cima do Pamplona:
— Que foi, Pamplona, que tinha no cartão?
— Mais respeito à professora. Disciplina militar no caso. Ela é a nossa comandante. Não conhecem o regulamento?
— Nos conta!
— Alto! Soldado raso não tem que saber dos cartões do comandante. E murmurou:
— Soubesse o que tinha, o que era... Mas dentro do catecismo!
— Pamplona, me conta que eu conto mais coisas que vi do corpo dela na Baía do Sol, nuinho-nuinho, a gente troca as informações.
— Última forma, retire-se, praça n. 38, Monta guarda! Quem estava na Baía do Sol não era a professora.
— E quem era?
— Nunca uma professora é nua.
Mais não adiantava, Não sé sabia. Pamplona jurou pela honra do soldado que ia ser, que não podia contar. Pamplona, marcial, parecia de uniforme, queria o curso primário para habilitar-se, logo que alcançasse idade, a um concurso de sargento na 26 B. C. ou no Rio de Janeiro. Que cartão era? Pamplona em posição de sentido:
— É meu brio, de praça, não dizer. Devo respeito ao meu superior. Levo isso pro meu túmulo. Assim jurei.
Pamplona, nos juramentos, apelava sempre para o seu túmulo, coisa que Alfredo ouvia dizer de livro ou de modinha e nunca no cemitério de Cachoeira e do Muaná onde lá era cova sepultura e casa de embuá. Pamplona não andava, marchava, não cumprimentava, fazia continência, e ficava longas horas vendo o exercício dos recrutas no Largo de Nazaré. sem tirar os olhos do instrutor. «Devo ser assim como esse sargento, bem-bem ríspido. Duvidou comigo, quem tiver sua cabra solta, prenda, comigo fez, cadeia.»
120 — Segredo militar. Sabe que quer dizer a palavra pacto, pronunciada escrita com o c? Pois é. Vai comigo pro túmulo. Licença para retirar-me, sargento Alfredo?
Que dizia no cartão? Quem que adivinhava? Pamplona cadeado na boca. A professora Maria Loureiro Miranda fazia vista escura às artes militares do Pamplona na aula, no recreio, na hora da saída. E numa aula de geografia, foi para Alfredo quase uma sufocação sentir na sua cabeça um dedo, a unha fina, uma unha macia, a professora encostada na carteira, um pouco inclinada para ele que se levantou, num susto e sufocado. E ali o anel da professora, os dois outros de uma cor fugitiva.
— Alfredo, as cidades principais do Pará. Que espanto é esse?
Via rente da boca da professora um sinalzinho, subia descia a respiração dela, um bater de peito um tanto descompassado, Alfredo via saindo desta, aquela da Baía do Sol. O menino, que viu; viu mesmo? Em coisas assim, não custava mentir, imaginar, acreditar que viu sem ter visto. Ao pé da cadeira, depois que ela se retirou mordendo o beiço, abotoando um colchete no alto das costas, o Lamarão cochichou mais que de repente: «Me beije, professora Maria Loureiro, já que a senhora parece com um apetite de beijar um, assim parece, sua boca não diz? Está com precisão, me chame, me de um golezinho desse seu beijo, não seja tão escassa.»
Alfredo cutucou o colega, surpreendido. Aquele, aquele era o Lamarão? Mas Lamarão? Desconhecia. Lamarão o olhar no sinal da boca, no abre e fecha dos lábios molhados da moça, a penugem do cangote, o colo que levezinho ela coçou um meio instante com a unha pontuda, o cabelo em que havia um pentear tão dela, de ninguém mais, seu dom. Nesta manhã ainda, corrigindo provas na mesa, ela deu um suspiro e toda a aula subiu desceu naquele suspiro e assim foi que o Pamplona também suspirou. Ela, macio, correu os olhos.
— Quem fez? Quem suspirou?
— Não foi a senhora, professora?
— Não lhe perguntei, Pamplona. Fique de pé, sr. saliente.
Ergueu-se, se abanou, suspendeu os braços, cruzou-os na nuca, tornou a sentar. Pamplona, de pé, em posição de. sentido.
Na sala da Diretoria, virou mexeu no espelho a professora Maria Loureiro Miranda, se ocupando em dobrar os seus feitiços. Pouca atenção lhe dava a Diretora, observou Alfredo. Alta, varando alturas e filas de meninos, rachando a voz para soar mandona em todo o Barão, a Diretora parecia empacotada, trazida em peças numa caixa forrada de serragem e cinza. Quando acabava o dia no Barão, o porteiro, o herói de Canudos, decerto desarmava a Diretora, metia as peças novamente na caixa entre a cinza e a serragem. Noutro dia, eivem o nosso toró, resmungão e abanando a manga sem braço, batendo a campa, a destampar a caixa, a retirar com a única mão as peças e a montar a Diretora: aqueles sapatos, os olhos de alumínio, cinzento o cabelo e a autoridade, o colarinho no pescoço de passarão, no caminhar, cinzento, meu Deus, de que fogão saía? Da borralheira só tinha mesmo a cinza? Até que Alfredo perguntou ao porteiro:
— A Diretora veio da onde? De que estória? É da família dos maguaris?
— A estória, meu Quadro de Honra, é eu te levar para a sala da Diretoria, gramar castigo.
E piruteando em torno do porteiro, soprou de boca em concha:
— Veio das ilhas Canárias?
Tinha visto no mapa em cinzento as ilhas Canárias, inventou que dali despacharam a Diretora. Das Canárias. Em tom confidente, lhe diz a professora Maria Loureiro
Miranda:
— Você me anda estudando fora da matéria, meu filho, Por enquanto as Canárias não boiaram nos mares, não saias de tua gaiola, meu canarinho moreno.
Nem por isso Alfredo se emendou, sempre saltando adiante, nas matérias. O olhar da professora lhe dizia que desobedecesse, que bom mesmo era fazer o que não convinha. Alfredo viajava para as Canárias, Odessa, os estreitos de Dardanelos, a Baía do Sol, A professora Maria Loureiro Miranda fechava os olhos, lhe abria a gaiola.
Premiava aquelas viagens, dando-lhe notas que nem merecia. A professora Maria Loureiro Miranda com o seu olhar fazia sentir que tudo que ensinava não valia muito a pena, aquele trabalho de giz, saliva e tinta era ou não era um pouco em vão? Quando via o seu aluno sobre o mapa, o dedo em Constantinopla, Índia ou Guiné, fingia uma censura assombrada e baixo:
— Mas, ah, se a professora efetiva pegasse, mas ah... E ficava ao lado, também sobre o mapa, o olhar viajante, de repente num desassossego fecha o atlas, castiga o aluno com o minguinho na ponta da orelha dele:
— Agora, desembarque, meu marujinho. Vamos, a obrigação.
Alfredo lembrou a mãe que falava da amiga rendeira, esta a enfeitar as mulheres de Muaná, sem faltar uma. Valia mais que aqueles enfeites do Barão, Os alunos saíam enfeitados de saberem isto e aquilo, e era bater o pé na calçada e da cabeça deles voava o enfeite, o Barão sumia. Também as professoras, quando saíam pelo portão, a modo que um encanto as tornava invisíveis na rua. Ninguém encontrava na rua uma que fosse. Nem a professora Maria Loureiro Miranda. Não eram desta Dois de Dezembro, da Generalíssimo, deste Largo de Nazaré, daquelas calçadas? Só existiam da porta do Barão para dentro? Aqui fora, adeus, nem sombra delas? Onde morava a professora Maria Loureiro Miranda? Quanto à Diretora, se sabia, ali de novo na caixa de serragem e cinza, com o mata-borrão da Diretoria em cima.
III
223
O jogo
— Você vai comigo no barco do Antônio e boca calada no que vai ver a bordo. Até que queimem o lixo e acabe a praga, meu sobrinho. Vamos levando uma senhora grávida, fugindo da doença.
Tio e sobrinho se aproximavam do campinho de futebol debaixo da sombra da mangueira. Ia haver jogo. Alfredo até se assustava; jogo com as criancinhas morrendo (quatro) na Passagem, outras mal, e em tudo, em tudo, aquele poder das moscas? E por que de boca fechado no barco? Por que fechar os olhos à passageira?
— O povo tem o seu fôlego, explicava o tio Sebastião, um tanto misterioso, contando da cavalaria, da cigarreira de costas abertas por uma espada...
— Bem, meu sobrinho, quem viu o Kuntz no goal do Brasil, o Fried, o Amílcar... isso aí é jogo? Vou no Museu com a Dolores.
Dolores? Ainda Dolores? A moça da padaria de Cachoeira, janeleira de São Mateus? E aqui na Inocentes, na pouca hora, já o mordido pela taoca tirando a normalista do Febre Amarela?
— A bença, tio?
Espalhando o seu negror festeiro, o ar viajado, lá se foi o tio e ali na esquina, no sol fervendo — tão casual, santa inocência! — o tio encontra a normalista, alta, o leque contra o sol, os olhos no tio.
224 — Apreciando o belo tio mundiar a quintanista?
Era o Cara-Longe, calças arregaçadas, mangas de camisa, sujo de terra.
— Vamos ao futebol? Joga-se bola no meio da morte e do mosqueiro. Estamos no apocalipse, bem lhe dizia. Um dia você lerá a Bíblia. E aqui em segredo: como falta coveiro no Santa Isabel, aconselhei um compadre a sepultar seu anjo no quintal. Cavei a cova debaixo das lágrimas da mãe que não se conformava. O pai, homem de uma só palavra, da feita que diz sim... Em vez da cruz, finquei um tajá. Soltei um foguete pra avisar o São Pedro no céu a abrir a porta ao anjo, como se faz em São Caetano de Odivelas, quando morre criança. O Herodes não cessa. Solta soldados, dia e noite. É a degola, enquanto os doutores conferenciam, a cavalaria dá pauladas, o sangue das mães escorre nos paralelepípedos. Não é o filho de Deus que Herodes quer degolar mas o filho do homem. Aqui na Passagem, depois do choro da santa da d. Joaquina Gonzaga, no quarteirão das religiões e do coito, reza-se para o demonio. Tu ainda não conheces a «zona» da Inocentes? Não viste ainda as fêmeas zonearem? Esses cavalheiros da Passagem, os batistas, os espíritas, os fiéis da santa chorona lançam espadas de arcanjos contra a garganta da perdição. Mas todos eles espiamzinho escondido aquela área de cachaça peixe frito e lamparina. Todos, foi visto o médium Mateus, o pijama de alamares. E ainda falam dos passeios da senhora Celeste, do orgulho da normalista.
— Mas o sr. não foi que falou?
— Falei? As quartas-feiras? Que sei? Meu filho, eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. Estavam no livro, agora estão na Inocentes. Meu filho, ontem me encontrei na la. de Março, à noite, com o meu antigo mestre de francês, o velho Marçal, um gorduchote aposentado, o fraque ainda do lemismo, a barba fedendo a sarro. Me citou qualquer coisa assim como... como... la puissance des mouches... elles gagnent des batailles... O mais, perdi. Citou o autor. Lá no ginásio, se lá chegares, saberás. O meu pouquinho francês gastei com os 225 con|trabandistas de Caiena, gastei o francês e o tempo. E aqui estamos debaixo da puissance... Olhe, muito segredo com o pé de tajá, meu jovem confidente. Um benzedor de panariço e um coveiro às ordens.
E com um aceno, rumo do futebol, foi repetindo: La puissance des mouches. La puissance des mouches. Alfredo seguiu-o, o campinho já cheio de torcedores. além das janelinhas, portas, batentes, mochos, espreguiçadeiras em torno do campinho. No batista, cantavam e ao pé da Nossa Senhora da sia Joaquim Gonzaga escorriam duas velas; no espiritismo, entrava, de guarda-chuva, um senhor muito pensativo. Pulando nos galhos da mangueira, meio do campo, penduravam-se os guris que assoviavam, soltavam curicas, baleavam de baladeira, acertaram um filho de manga nas costas do Cara-Longe que se voltou, gritou no francês dele, o folhame escondia os apedrejadores. Subiam o mastrinho as duas bandeiras rivais. Jogariam uniformiza dos? Também de bicancas ? E a bola, nova-nova da Saltão? Alfredo despacientava. Ir embora de Belém queria e logo o medo de não volver de Marajó. Faltava um ano no Barão. Se subisse na mangueira? Em que findou o encontro do tio com a normalista? Coroada com os diamantes a d. Cecé sentada no trono onde foi um sobrado de azulejos. Culpando a Arlinda, passar a próxima por ladra de vestidos velhos? A mangueira, agora, lhe parecia mais troncuda, escura de tão verde, à sua roda cirandavam as casas, o campo, os torcedores. As duas traves, sem um cal, coitadas. Também em volta chegavam as senhoras moscas, lá no alto um papagaio muito alto; ligeiro um outro, que nem gavião, cortou o rival, foi uma algazarra na mangueira, a meninada atrás do papagaio caindo; caiu nas palhas do carvoeiro, este com a vara barrou os invasores; cutucou o papagaio no palhal, era grande, duas cores, um rabo raro: então apanhou, disse: só entrego ao próprio dono. O jogo ia começar. Perto, um velho, o corpo dobrado, riscava o chão com a ponta da taboca e dizia: aqui já foi o mastro de São Sebastião, palanque de festa de São Francisco das Chagas. Debaixo da mangueira, estendemos o corpo do 226 Sandoval morto num encontro de boi-bumbá no Umarizal. E uma pessoa tirando o punhal do morto: Sossega, meu camarada, que este teu punhal te vinga. Essa pessoa fui eu. Foi só nove anos na São José que curti. O velho escrevia o chão em companhia de outras pessoas que cismavam, olhando aquele escrito garranchado. Alfredo tentava ler. O velho alegava que o largo teve mastro de santo, foi terreiro de boi-bumbá. velório do Sandoval, de bichos. pastorinhas, muitos que ali estavam quanta vez não apreciaram o luar ao pé da árvore, outros fincaram bancos, e o tempo em que a falecida Fortunata ali colocava a panela e vasilhame do seu tacacá, assim de freguesia, e bem debaixo da mangueira? As mangas caiam rachando, recendendo pela Passagem, cada frutona. manga que era uma imundície, por ele, não, pra manga paladar não tinha. Agora era só bola, bola, bola, a invenção de bola no meio das casas, só estava era a competência dos que consideravam apropriado o terreno para um divertimento daquele, tão bruto, que o inglês trouxe, além do mais a mangueira no meio.
— Mas é um adiantamento, mestre Aniceto, é o progresso, rebatia o baixote, de pijama sem alamares.
— Só estou é o espírito do finado Sandoval não botar esses batedores de bola do lugar onde ele expirou. Vão cuidar do lixo, queimar os doutores no forno da Cremação, soprar essa moscarada, que a cidade está que nem curtume. É ou não é um castigo?
— Ademais não tem licença na Fiscalização. Passa o fiscal, lá vai multa, desfinca as traves, o mastro pro fogo, só o centro do campo é que não pode apagar, a não ser que derrube a mangueira.
— Mas legalmente a Passagem dos Inocentes existe? Existe? Existe? Categoria de rua, adeus que tem. Existe?
O baixote piscou que o fiscal permitia; mesmo fiscal na Passagem só para o dia do Juízo. A maioria da população estava de acordo de que o futebol no coração da Passagem era, quando mais, um certo adiantamento.
O velho resmungou as suas obscenidades, escarrou para o lado do mastro onde as bandeiras pendiam, murchas. 227 E Alfredo de costas ouviu um chamado. Pela voz sabia quem.
— Bem, meu filho, parto. Embarco cedo. Deixo a Cecé e o Belero nos teus cuidados. Combinamos tudo. Pelo menos um ano por lá. Pouca desgraça comigo não. Ou a fortuna ou desgraça muita. Pouca, não. A Cecé agorinha me assegurou que este ano ao Muaná não vai. Ah! Tomara Deus!
— O sr. não está fugindo dela, do que fez, do aleive que ficou na Arlinda?
— A Cecé fica. Meu filho, aqui entre nós, ralhos só do meu finado pai. Ora, esta, meu joelho ralado! Ainda mais esse de calça curta! Mas veja só! A Cecé. fica, sim.
— Fica? O sr. trás os diamantes? Há coroas de diamantes?
— Não, não vamos nos despedir brigando, rapazinho. Que Deus te encurte a língua, seu esmiuçador. Te trago uma pepita.
Alfredo correu para a barraca.
Assustou-o a sombra da d. Celeste na parede. Que fazia ela entre o zumbido das moscas, o rosto nas mãos, só? Sabia que o sobrado foi abaixo? Ou com a ausência do. marido, vai fazer de toda tarde a sua quarta-feira? E nesta pergunta, não ia uma calúnia, que sabia?
— Sim, garanti que ficava, Eu que fico? Belerofonte só vai saber quando chegarmos na doca.
— Mas ao Muaná? Vai a Muaná?
— Então? Naquele sobrado, ainda sou eu, ainda sou eu.
— Mas vai enganar o seu Antonino, o Leônidas?
D. Celeste voltou-se, fechou a mala vazia, bateu as moscas, olhou para o primo que se encolhia na parede, embaraçado. Ela quis rir? Cosido à parede, Alfredo titubeava, ao vê-la tão agarrada ao que ela repetia: ainda sou, ainda sou eu.
228 — É só o Leônidas embarcar. Hoje é o Antonino. Já ajustei passagem. Pensando que eu ficava, meu espantado? E uma coisa :nem uma palavra. A ninguém.
— por que me disse? Por quê? Precisava me falar?
— Por quê?
Falava rouca, uma sombria astúcia nos olhos, enxotando as moscas, como se com isso tivesse algum sossego.
— Por que me contou? Precisava?
Nisto, bateram. Alguém pela janela pedia retalho de vestido ou pano para forrar um caixão na 14 de Março. O anjinho tinha expirado naquele minuto.
No mesmo momento, fugindo, Alfredo riu, ria de seu Antonino, da d. Celeste, e os dois risos por dentro, cortavam fundo. Por que ambos me contaram? Por que me meteram em cada um deles? E se aos dois falasse, tirando de cada um a mentira, a cada um dando a verdade? Mas sabia? Era direito calar-se? Por que envolvido pelos dois, obrigado a calar-se quando mais fácil seria não ter sabido nada, nada... Por que o jogo não começava?
Mais embaraçado, mais confuso, Alfredo a modo que via naquele futebol o próprio embaraço, a confusão mesma, um jogo de toda a Passagem em torno dos vinte e dois que circulavam à roda da mangueira, atrás da bola. Esta, pensou Alfredo, era o seu carocinho de tucumã subindo e descendo, retirando dos jogadores e da assistência, como uma fita mágica, os desejos e os impossíveis da Passagem. Também a bola trazia a d. Celeste de volta, sem ver o casarão destruído, levava o seu Antonino ao garimpo, a mão exata no diamante do fundo. A bola volteava a sua fita imensa, invisível, que Alfredo recolhia em seu desassossego; aquelas criaturas seguindo a bola, que sonhavam, que desejavam, que pediam? O campo se prolongava pelas casas e pelas almas, a bola em toda a parte, perseguida e perseguindo, cheia do faz-de-conta geral. E quando se entranhava nas ramagens da mangueira? Subiam os bombeirinhos ajudando os que já estavam lá em cima, com o sol no rosto, a bola pendurada no ramo, oculta num ninho, suspenso o jogo aqui em baixo, à espera que lá de cima o outro jogo terminasse. A mangueira escondia a bola, 229 com esta os meninos saltavam nos ramos, um passava a outro, assim de mão em mão, numa arte de circo que Alfredo admirava, invejava, queria. Que faz-de-conta era lá em cima? Por que escondiam tanto? Por que eu também escondo, calei-me, deixando ir a d. Celeste? Na mão duns mágicos a bola e aqui no campo e das casas atiravam pedras, gritos, a aflição das mães: desçam! desçam! Qual nada, os trapezistas, de galho em galho, sumiam pela folhagem; até que a bola escapava, escorria pelo tronco e os vinte e dois recomeçavam a perseguir a próxima, vai neste pé, pum na cabeça, bateu na trave, repicou entra na janela, em cima da criancinha no macuru, acordou no quarto o velho que deu um um grito como se visse a morte e agora a bola volvia, alta, varou as ramagens, saltou nas palhas da igreja batista onde os cânticos iam mais altos. E escapou visitando outra barraca direitinho pelo rombo da parede — gol! gritaram os meninos rompendo a nuvem das moscas — saltou dentro da alcova; os moleques voltavam tontos, muito arregalados: ela estava nua, nua-nua. A bola caía em cheio nas intimidades, voltava mais pesada e mais esquiva e os vinte e dois naquele espaço mirim rodeando a mangueira, a adivinhar se a demônia estava doutro lado ou na frente ou escondida nos ramos ou mansa na mão dum menino ou fugindo para as moradias, e sempre os vinte e dois a persegui-la, que bem e que mal enchiam o pneu, o couro tinindo? Atrás da bola, a torcida e os dois bandos desarrolhavam suas velhas raivas e ódios guardados, seus carinhos súbitos, suas fúrias. Outra vez a bola, tibum num caldeirão de mocotó, levada ao poço, baldeada, agora no choco da galinha, aqui na arca que a velhinha sarapeca fechou berrou que bola nenhuma ali não tinha entrado não. Pela luz divina, dentro da arca, não, que nesta arca o diabo nunca entra, não. O bem soa e o mal voa, a bola não soava, voava. Os meninos sabiam que sim; descubram como tirar dali. Sentada na arca, a chave na mão, a velha desafiava. Veio a madrinha do clube, rogou, suplicou, deu dez tostões, a velha abria a mala com este ajuste: sair sozinha da barraca e deixar a bola bem ao tronco da mangueira, fazendo cruz, dizendo: Te arrenego. Sim, gritaram geral. Outra bola não tinham, 230 só aquela. Nesse intervalo, via-se o silêncio de combate em que os inimigos se defrontavam calculando suas reservas, sorte, azar, manhas, paixões, medindo o fôlego, tão bons vizinhos, agora separados, matando a sede de se dizerem desaforos, injúrias chocadas quanto tempo, pela vingança, ou pela inveja, no pretexto do jogo abriam a alma. Muita vez os jogadores eram lançados porta a dentro, pelas janelas, ali mesmo socorridos, e outro alarido foi quando a bola enxotou do quintal porcos, picotas, bichos que um vizinho escondia do outro, agora tudo descoberto. As donas de casa, reclamando contra a roupa atingida, os gomados alheios, o trabalho perdido pela fatal visita, saíam para o meio do campo, entre os vinte e dois, a tocar as aves, o capado da professora de óculos, e o cachorro, um brabo que a bola tirou da corrente, pulou no vizinho, mordeu a criança, por isto deu briga, o jogo interrompido. Chega a madrinha do clube e a bola voltou a vasculhar as barracas, curiosa dos esconderijos, e sempre insubmissa aos pés e mãos daqueles seus perseguidores, no prazer de provocar desastres, desunir vizinhos, surpreender os amantes nas sestas de domingo. Atrás dela a obstinação, a astúcia, a esperança, a sede de algo que a bola escondia das duas equipes e da população. Só a mangueira, acima do bem e do mal, amadurecia as suas mangas, também carregada de meninos, mais uma e outra vez escondendo a caprichosa. E foi que no rodeio da árvore um atacante conseguiu apanhar a esquiva e chutou tão enraivecido e feio que a enganosa voou janela adentro da d. Joaquina Gonzaga correu um alvoroço — por que deixam a janela aberta? Bateu na santa? Bateu na santa? Tocando de leve no rosto, por pouco a santa não quebrou! A menina, sempre entrevada, vendo os vestígios úmidos no rosto da Nossa Senhora, gritou que a santa chorava, suspendeu-se o jogo. Veio a madrinha do clube. Era, não era, a d. Joaquina Gonzaga a afirmar que aquela água na bola foi posta por Deus para justamente bater na face da imagem e transformar-se em lágrima e tudo o mais era a pura perdição na Inocentes, pois se até as moscas sempre respeitavam as faces da Mãe de Deus, ao passo que dessa humanidade só se via esta bola. Mas o Alfredo deu com o 231 Cara-|Longe, este varando o barulho, a afastar a aglomeração, pediu o lenço da madrinha do clube e enxugou perante aquele público o rosto da Nossa Senhora.
— Confundir aquelas outras lágrimas com este sujo de bola molhada?
Enxugou-se, acabou-se. A santa não chora por tão pouca merda que sois vós, caifazes! Ao futebol. Leve a bola, madrinha!
E foi então que Alfredo viu: num passo tardo, o tronco nu, reluzindo no sol, o homem se aproximava — o Espantalho, meu Deus, o Espantalho andando! — saíra de sua janela e viera, pelo menos de longe, ver.
— É o lázaro, Nossa Senhora, sussurrou a mulher junto de Alfredo que estremeceu. E viu: de menos distância: semelhava um santo? A modo que só ele tinha consciência de tudo aquilo, sabia aquilo, e a morte das crianças e a praga das moscas, podia bendizer e amaldiçoar o jogo, os jogadores e a platéia ali espalhada, agora assombrados com a aparição? Solitário, passo a passo, o peito e o rosto no sol, avaliava em toda aquela gente à espera da bola, a chaga oculta, as públicas e secretas loucuras? E então foi que a bola, depois de tantos giros, veio caindo pelo rosto do aparecido, pelo peito, mão e coxa e aquietou-se ao pé descalço, sem que ninguém se atrevesse a apanhá-la. O homem parou. Com o sol em cheio e na poeira levantada, mais parecia subindo o céu.
233
Noite em Santana
Navegava? Mas essa ilha? Na Meia-noite? Igual navio? Ou barca de Caldeira Castelo Branco, o fundador de Belém. de dia era ilha, de noite desencantava?
Sentado na borda, a mão nos cabos da cana do leme, soltando a escota da vela grande, o tio Antônio. Ou o braço dele, negro, é o próprio leme?
Dois mastros subiam sem fim sustentando as velas inclinadas, o pique alto: os mastros desta viagem, levando debaixo do toldo a oculta senhora na rede; e pela primeira vez com o tio Antônio, o piloto barqueiro de muita falância no Ver-o-Peso, trapiches de Soure, Pinheiro e Chaves. Antônio, nome famoso na boca da mãe, Antônio, o Piloto.
O barco «Santo Afonso». Viajando no «Santo Afonso»! As vezes que este viajou lá fora, no desconforme — estica que eivém a pororoca — entre as mal-assombradas marés da Costa Negra. Barco curtido de trovoadal rumo da Mexiana, Amapá, Oiapoque, roçando rios de diamante e de ouro e portos de febre, contrabando, evadidos da ilha, do Diabo, a língua francesa, e onde devia estar — pelo menos a sua alma errante — aquele doutor Edmundo no búfalo.
Dois mastros o «Santo Afonso». Que traziam na madeira? Que paus são estes, de onde tirados, agora tão mastros, como se tivessem sido sempre, veleiros de nascença, parecendo de ferro e ao mesmo tempo vivos, dentro deles correndo voz de vento, ordens de comando do tio Antônio, gritos antigos dos bichos no cerradal? Já antes 234 suas ramagens no vento velejando adivinhavam estas águas, este piloto, a escuridão dos pampeiros, os raios na travessia, muito arco-íris ali oculto para sempre, o grosso do sol e das sombras de Marajó e Maguari, nessas linhas tão embaraçadas de maré, faróis, currais de peixe e mastreações, correntes, gulosidades de areia e lama, pedras e mangues do Cabo ao Cabo.
Tio Antônio afrouxou a escota, a vela rente a água, esta nem encaracolada. Feita de dois panos, pardo e claro. a bijarruna, tão de valia no sustento do barco, entesou, a seu gosto. Muito do bom navegar em veleiro está na proa para as atravessações da baía, em demorosas bolinas no lavradão liso de vento: a bijarruna, tão mirim ao figurar com as velas, capaz era de virar barco, meter a proa no fundo. Agora divertida, entesa, paneja com a ração de vento em popa e faz o seu aceno à ilha das Pombas, embocadura do Arari. A ilha navegava? Da folhagem içava as velas? Do seu fundo fumegavam as caldeiras, saindo o chaminé dos miritizeiros? Na proa, o tio Sebastião, silencioso, erecto como o terceiro mastro.
— A bijarruna sustenta a força do barco, o sr. disse, titio? E o leme? Eu queria saber onde é a bita é o que prende o ferro?
— Das artes da navegação, meu sobrinho, conversa com o teu tio ali.
— A ilha, então, anda?
— Qual? Aquela? Disque sim.
Era saber pouco. O tio escasso de língua. Dolores? A normalista? Uma do Rio, quantas?
— Sino, relincho, galo, um latir, de sereia a cantiga, os pescadores escutavam.
O tio falava distante. Era mesmo da ilha que falava? Ou da ilha, na São Mateus, aparecendo na janela?
— Escutavam e dali pediam distância.
— Ouvia-se? E depois, a ilha?
— Quem peito tinha para ver de perto virava no mesmo que chegava, voltava, sentindo toda a vida o mau olhado, aquele sempre doer a cabeça, 235 Alfredo repetia: sino, relincho, um latir, galo, de sereia a cantiga. A ilha ou Dolores? O tio numa voz longe.
— De dia era ilha inocente. Dava casca de mangue a quem quisesse e num só ponto havia sinal de encantado. Entre os ajuruzeiros da prainha doutro lado, o pescador que quisesse entrar, tinha de dizer aos dois passarinhos ali de guarda: Maçarico, maçariquinho, licença para uns ajurus? O maçarico macho inclinava a cabeça que sim.
Alfredo num capricho de entender: sino, a igreja de Cachoeira onde Dolores se encontrou com o tio e aí, contavam as bocas na sombra, na Eva tornou-se e o tio, Adão, um São Benedito aceitando a maçã. Relincho, o cavalo que os dois montaram numa noite. Alfredo soube iam embora, fugitivos, Dolores na garupa, o cavalo relinchando. De repente, voltaram de galope, ela pulou na beirada. Um latir, o galo, a cantiga, aqui se misturavam, era o tio, era Dolores, agora doendo no tio, sobretudo o latir da cachorra e o cantar da sereia, no meio o galo de asa murcha aqui no barco, contando estórias da ilha. O tio calou-se sofrendo a sua roedeira? Estava ouvindo o sino, o relincho, o latir, a cantiga, na janela da São Mateus. E viu de perto a ilha, de perto a moça na janela, voltou com mau olhado, sempre o doer na cabeça, mais no peito.
— Lhe doendo a cabeça, titio?
— Eu?
Pouco ventava mesmo, sopro do geral ou aragem ponteira, lembrando a Alfredo aqueles ventos do campo, curiosos de Maninha, do prelinho dido, as frinchas, a careca do pai, cata-ventos de papel feitos pela mãe com aquele barulhinho especial que faz o beija-flor na flor. Ventos cheirando a sol e a gado no atoleiro, a fogo nas pastagens, a Andreza no Por-Enquanto. E os bons sopros do verão dizendo que as fruteiras do mato derramavam no chão seus murucis, seus puruís, tanta pixuna, e bacuris e tucumãs. quanto inajá, também abio e mucajá, piquiá, muito; aqueles que traziam à sesta do Major, um e outro urro das lonjuras, o golpe no ar de um pássaro desconhecido, lá se indo, nos combates com os gaviões. O «Santo Afonso» sabia 236 desses ventos na vela, neles descansava dos outros de mau gênio, que rasgam pano, quebram mastro. Na popa, o tio Antônio conhecia os de bom gênio muitíssimo bem, como se os tivesse soltado da camarinha, do sovaco e de debaixo do pé. Tio Antônio! Estava ali ao pé do tio, sem dizer palavra: que vontade de lhe passar a mão no rosto, e no seu braço de piloto, ah, varou quantidades de distância. quanta noite escurona, aquelas do Maguari, desovadas do oceano, mugindo nos mastros com trovão em cima e em baixo trovão d’água.
Vagarosamente o barco passava defronte da ilha sob as salvas do passarinhal repentino que se espalhou no céu há pouco borrifado por uma nuvem chuvisqueira enquanto as águas da baía, acesa, no último sol e com as primeiras sombras, queimavam ao longe um veleiro de misterioso rumo.
D. Cecé estará chegando a Muaná? E lá se ia o seu Antonino, em busca da coroa. Direito foi eu deixar ir a d. Celeste inocente-inocente? Este tanto me preocupar me diz que não? Acabei ingrato? A ela, a ele, a ambos enganei, por não lhes dizer que estavam se enganando? Quem me explica? Das três Celestes qual a própria? Ou sem as três não é d. Celeste?
A ilha defronte, os dois tios, o navegar deste barco. o agrado dos tripulantes ,não amaciam este asperume aqui dentro misturado ao querer saber quem, quem vai aí debaixo do toldo, a metida na rede, no ponto de ter filho? Dela, só de rabo de olho: a perna de fora, bonita perna. As suas poucas palavras, baixo, acudia o tio Sebastião. muito expedito. E só. Ó ilha, vamos, navega! D. Celeste vê no ar o sobrado de azulejos e entra, coroada de diamantes, nos braços do garimpeiro.
Navega, navega! Desesconde os teus panos, teus tripulantes da toca, a proa qual é? Ou sais de máquina, teu leme, as rodas de lado, só na meia-noite? És uma barca portuguesa?
Essas perguntas dormidas na antiga curiosidade, agora acordavam, acesas pela imaginação, pelo descobrimento da ilha, nunca assim tão perto de seus olhos e da pressa de 237 esquecer Belém. Queria soprar as perguntas num búzio para as tripulações da baía, pescadores, pedindo que confirmassem: a ilha navega, sim. Como se isso o ajudasse a decifrar uma porção de enigmas propostos à sua idade e um pouco explicar-lhe o que, lá atrás, em Belém sucedia. Haverá no mundo maior inocência que aquela em que vai a d. Celeste? Estes dois tios nem haviam de crer. Melhor que nunca saibam. O passeio dela — também voltou meia-noite — quem decifrava? Ilha, ilha, faz ao menos um jeito de quem levanta ferro. Se ao menos levasses a senhora dos azulejos, a senhora Mac-Donald. Não, não. chorar não quero, que basta o que escondidinho na rede chorei pela menina que fugiu com o Pégaso. Não quero nem imaginar a d. Cecé, com o seu Belerofonte é belo a correr para sua casa...
— Café, meu sobrinho?
Sempre nos seus agrados, o tio Antônio, muito prazenteiro. O «Santo Afonso» entrava macio no colchão de espuma e embalo nos pedrais ou ao longe salpicando alvura na praia avermelhada.
Faltava ânimo de perguntar ao tio, este, por certo, prazeroso em escutá-lo, responder-lhe tudo, dicionário que era das navegagens. Tio Antônio movia a cana do leme, num ar distraído, como se pilotar fosse assim mesmo, parecendo sem mistério, tão simples quanto devia ser tão complicado. Para chegar àquela fingida distração, quantos anos de pilotar. De sua família aquele tio! Filho do cesteiro e paneireiro Bibiano, dos pretos de Areinha. Então o sr. um dia, há muitos anos, agora que eu soube na festa da surpresa, o sr. deu na minha mãe para saber de quem o primeiro filho dela? Com que ordem? O sr., agora tão incapaz dç se atrever a ralhar um sobrinho, até mesmo se fazendo «ora, quem sou eu» diante do sobrinho que estuda, o sr. bateu, ripou as costas de minha mãe, sua irmã, pessoa de seu sangue, já crescida, dar numa moça feita? Era pai, avo, tio, padrinho para semelhante proceder? Fosse agora na sua idade e ela menina, vá lá, para uma correção. Mas um rapaz, a barba nem picando e de chicote em cima de quem ia ter um filho, sem saber que o silêncio dela era a sua melhor honra? Agora, me diga: 238 quantas, e sem irmão pra acudir, esse seu bom mano, o Sebastião, já não galou do Juruá ao Rio? O sr. mesmo — que a mãe falava, coitada, nem ressentida, por satisfeita falar de um irmão, um regular piloto, não rejeitava festa nem saia — quantas o sr. também? Os filhos que abençoa fora de casa? Nos cochichos de Areinha, o tio Antônio assim figurava: mas me diz, sem-vergonha, quem é o autor, o pai! E a mãe, de ferro, arre! morria mas não dizia. Doeu que me doeu ouvir mas depois bem gostando da parte em que ela: dá, mas não falo! E quem sabe não bebe escondido pelo desgosto de se ver ripada entre os alheios pelo irmão mais velho, ou por ter desgostado o irmão, este a surrá-la mas ele mesmo sentindo a surra mais que a própria irmã, vá a gente entender, navega, ilha das Pombas. Da tarde, esta, faz depressa meia-noite.
Estava ali no leme, senhor da viagem, aquele homem alto, partido do lado o cabelo, não tanto duro, pincelado aqui e ali de alvo, mais nas têmporas, a boca sem grandes lábios, curta e imediata para as vozes da pilotagem. Tio Antônio no pilotar, no comer, conversando, dormindo, tinha a aparência das pessoas duma fidalguia negra, sua delicadeza, arrojo, perícia sem pavonice nenhuma mas seu orgulho. E o olhar dele no tempo, na água, mato, boca do rio, certeiro?
E aqui sem ânimo de lhe perguntar se a ilha... Valia mais não perguntar. Ilhazinha sortida de palmeiras, a cinta de aningal, beiçuda de pedra. Enterraram afogados ali? Sepultava uma tripulação inteira, virando agora a ilha em navio, em barca, e lá se iam os finados a navegar?
O tio, dono deste leme, deste barco pertencia aos Abreus, (fazendeiros no Arari), virava o rosto para o restinho da tarde que ia se embora. Deu com os olhos no sobrinho, sorriu-lhe. Sorria mais nos olhos, seu negrume no sisudo acolhimento, o seu agradar um pouco semelhante ao que se via na mãe, quando esta, sozinha, conversava com as pessoas de sua maior simpatia ou com as mais desvalidas, a Andreza, por exemplo. Nos olhos do tio o contentamento pelo sobrinho no barco. Um passageiro da família pagava a pena de ter que levar quase sempre um e outro Abreu, esses brancos cheios de tanto titi, 239 brancões bacharéis bem burros. Com os brancos — a mãe contava — o tio Antônio carregava uma dureza, até exagerava. Trabalhava pontual no regulamento mas seco, no barco pegou no leme quem manda aqui sou eu, propriedade é lá nas leis, no cartório, aqui na lei do mar eu. Os Abreus engoliam. Não eram tão maus brancos, muito viajados, bem dados, finórios que só o diabo.
Sorrindo, não, tio Antônio? Seu sobrinho está muito satisfeito em viajar com o sr. no «Santo Afonso». Sei que está bem contente em me levar como seu passageiro. Sou um ilustre, que diga o pupunheiro do largo da Pólvora, a Arlinda que eu não soube defender, e o mais. Mas pensa que não me dói a coça que deu na sua irmã? Fique o sr. sabendo, naquilo não passo a esponja, seja o sr. o maior piloto, o mais amoroso irmão, o capaz de morrer salvando minha mãe numa alagação ou este seu sobrinho se esta verga me atirasse n’água.
Mas se não tiro o tio do purgatório, também deste quem vai me tirar, pelo que fiz e pelo que sei em Belém? Não deixei a d. Celeste ir que nem um passarinho cego a Muaná? O melhor é dar um suspirinho e passar desta borda para a outra, beber água de coco, esta que o tripulante me dá.
O «Santo Afonso» ia buscar gado no Alto Arari. Encostaria em Santana, quase na boca do rio. Subiria de madrugada com a enchente. Entrando no Arari, qual cavaleiro em tarde de procissão, enfiando a lança na argolinha, assim nesta o tio Antônio enfiava o barco. Não podia bater na ponta de pedra que armava suas ciladas sem nenhuma espuma? Este lisinho que se fingia fundo? E os rasos, puas de pedra, prontas a abrir o casco? O tio, dono era da entrada do rio, morador da baía, sua confidente, des que se entendeu. Mas sabedor também das viagens e peripécias da ilhinha viajante? Viajas, ilha? Todos não contavam? Todos, minto, do Tio Antônio ainda nem uma palavra. Pessoal embarcado, Lucíola; Danilo, até Andreza tirava estória das navegações da ilha. Só na meia-noite, diziam. Quando dava meia-noite em ponto. E como a ilha ia saber que era meia-noite, qual o relógio? A lonjura dava licença para ver os ponteiros da cidade, calcular, pelos apitos da Usina, Utinga e olaria 240 do Arapiranga, a aproximação da meia-noite? A meia-noite para a ilha era anunciada por quem? Em que relógio de barco, ou do meu e teu imaginar, nosso medo, o nosso estar tão só e da nossa outra sede? Talvez a maré avisasse: ilha, já são horas, acorda teus tripulantes, suspende ferro, vamos. A mesma maré levando o navio, ou barca de velame que embranqueceu de velhinho, naus de livro que lhe mostrou a professora Maria Loureiro Miranda ou dos registros da Nossa Senhora de Nazaré quando esta salvou o brigue do d. Fuas.
Ilha das Pombas, destas nem uma pena. Desde menino ouvia, sabia, duvidava, acreditava, e queria, hoje mais do que nunca, saber, senão depois não sabia mais. Vinha de férias, ou fugindo das moscas e dos anjinhos esperando cova, que o céu, este, só mesmo nas pinturas? Sentia-se quase todo fora de sua casca, custosa casca, puxa! Queria saborear com a sua saudade um chão e um rio que lhe pareciam perdidos para sempre, vistos agora com o olhar de quem viu duas cidades (ou três?); o coração desabotoava-se, quero que navegues, ilha veleira. A mãe sabia dos contos da ilha. Falava uma e outra vez, só para avisar: de tudo isto eu sei. Nunca dizia se acreditava ou não. Nisso era habituada, em muitas coisas a mais misteriosa. Também falar em presença do pai, não valia, porque o pai: Pura potoca. Povo carregado de superstição. Alguma ilha anda? Só se for com as vossas pernas, com as asas... O pai queria lembrar as asas que leu na mitologia, esquecia. E agora: se vai saber que a ilha não é nem vapor nem nau, melhor que nunca digam, que eu finja nunca saber a verdade. Não navegar diminuía algo que, embora não definido ou claro, era um dom do seu espírito. Por isso temia perguntar ao tio, que o tio seria capaz de responder: Essa gente que imagina... Sendo o tio um homem verdadeiro, adeus ilha navegante. Mas verdade assim não é tão só um duro desmentido? A curiosidade devia bastar-se a si mesma, irmã da imaginação? Então, escurinho e distante, o caroço de tucumã podia socorrê-lo, saltando na palma da mão e dizer: quem que disse que a ilha não navega? Sim, vapor ou caravela, o que seja, faz as suas viagens.
241 A mãe, no chalé, nem sim nem não, dizia. Coisas tão necessários de ser ditas a filho, a mãe não dizia, ficavam no silêncio dela, sumidas no pretume como a quilha deste barco no rio. Duas ilhas, neste instante: essa de fora, se navega ou não navega e esta aqui na rede, o filho por nascer.
No que ia vendo o barco no rio, ia também colhendo o rosto da mãe em seus mais miúdos ternos momentos. os muitos rostos dela no tempo, na janela, ao pé do poço ou da filha morta, refletidos na cuia d’água, no espelho da festa de Areinha, os traços, antes invisíveis. agora descobertos, espalhados na ilha, na espuma e correnteza, no virar da vela. Aquela viagem em que ela o levou para Belém se misturava nesta. Quando o «Santo Afonso» aparecesse no estirão de Cachoeira, já na ribanceira estaria ela? Em que estado? Sem o torcimento de boca, sinal do Cão?
Ao indagar isso, se arrepiou, constrangido, maldoso. contaminado, fechou os punhos, receoso de ser visto assim. Aos tios era fácil ver nessa ainda pouca água que era ele o muito limo que tinha. Para fugir, quis saltar pelo barco. ir à proa indagar do tio Sebastião e colher deste aquela certeza, para poder chegar em Cachoeira e apanhar a mãe pela ponta do queixo: Pois, mamãe, a ilha das Pombas anda sim que eu vi. Navegava que navegava. A maré marcou meia-noite, a ilha já não estava mais no lugar, varando a cerração da baía. No lugar dela um poço onde as águas em roda não entravam. Moradia de cobra, da tripulação, de coisas que não se sabe nunca?
Ou certos pilotos ,certos pescadores, era que alcançavam a graça de ver a ilha navegando, vendo a própria baía aumentar de tamanho para a ilha viajar mais à vontade, ter nas rotas encantadas os portos que quisesse?
— Tio Sebastião, olhe que eu não conto pra Dolores o que vi na Inocentes, mas em troca me diga. Que segredo então este-um aí debaixo do toldo? Está esperando que eu adivinhe? A dona tem culpa? De ter um filho? Ou é só o medo do filho virar anjinho em Belém? Mas por que o segredo? Dela, na vista, só aquela acuceneira dentro do paneiro.
242 O tio, dedo ao lábio, as sobrancelhas coçando. Agora pouco do militar restava no tio. Exibia mais na mala que no corpo os uniformes, mais nas fotografias tiradas no Rio que em pessoa. A grande cápsula da bala da revolta de 22 ia ornamentar a saleta do pai, servir de peso a papéis e catálogos do Major. Chegou falando muito de ondas hertzianas, com um nome: Marconi. Alfredo queria ver no rio as tais ondas que traziam vozes, o tio: mas não, meu sobrinho, as ondas são outras, no invisível. Por isso, Alfredo acreditava na presença, invisível, de Lucíola. O tio mostrou-lhe as perneiras, dentro da mala, espelhando. O Major tinha avisado: vai, embarca como voluntário mas não lustra as perneiras, depois grita «Aqui d’el rei». O Major falava do pai, o tenente Coimbra, que guerreou. entrou com as tropas, em Assunção. Ganhou condecoração e veio caçar ladrões de gado no Arari. Sabedor do voluntariado de Sebastião, o Major instruiu a irmã dele a escrever-lhe as regras de um bom soldado. Parecia até conhecer os regulamentos militares, recordando os rigores da caserna, tempo da monarquia, Laguna, a orelha do Lopes cortada, o menino paraguaio, tão bravo, degolado pelo seu heróico atrevimento, as tantas do Conde francês, os calça encarnada em Belém de volta, o «vejam como morre um general brasileiro» escrito na estátua do Largo do Palácio. Segundo o pensar de d. Amélia, o Major cuidou em ser, pelo seu tempo de mocinho, um tenente como o pai, pelo menos tenente de uniforme de gala, pois em Belém gostava de levá-la nas paradas, não escondia seu prazer, a admiração, o respeito pelo desfile, tinir de espora e espada, pompa dos cavalos, o lustro das armas, botinas e metais. Andasse o Sebastião sempre limpo de botão e perneira e podia exibir a todo mundo o seu documento militar. E sem mais: Entendo que os exércitos devem acabar. Este nosso? Come demais o orçamento. Na campanha do Rui, no civilismo, fiquei do lado de Hermes. O Rui é um rouxinol. Entende da gramática e do direito e não da política. Mas os militares devem acabar.
— Ora, você, seu Alberto, um tão desajeitado, sempre a calça no rendengue, sem nunca saber dar o laço da gravata, veste a meia do avesso, abotoar os punhos, quem 243 disse? e é um Deus nos acuda ao colocar o colarinho... podia ser um tenente? E acabar com o exército? Entenda-se, entenda-se.
D. Amélia falou que ele se regulava ainda pelas disciplinas e bordados da monarquia. Acabou a calça de guará. Muita coisa, depois da lei da Princesa e da República, devia ter mudado ou andar mudando, acrescente a guerra mundial. Veja pelos catálogos. Seu Alberto se gabava de coisas que tinham tido a sua terminação. Aí a mãe gracejava. Fosse ver aqui no chalé o Major da Guarda Nacional. Cadê o uniforme branco trazido pelo dr. Bezerra. No fundo da mala, entre o chernoviz e um antigo espartilho. só ficava o quepe e o galão. A calça era o uniforme do impressor da dido, o dólmã muitas vezes travesseiro da cachorra, os botões os guris da rua de baixo levavam. Onde o capricho militar. Era só dizer e não fazer?
— Sou Major, não pela Guarda Nacional, mas pelas minhas artes, rapariga.
Ela, por sua vez, de farda não desgostava, mas não tinha paixão. Criou ojeriza foi a emprego de embarcadiço. Filho dela, por seu gosto, nunca havia de andar embarcado. E seu castigo, castigo de toda a família, era seus irmãos, menos um, doidando pelo mundo, outros por mau fado embarcadiços. Aquele, então, o Antônio se consumia nas mais arriscosas pilotagens, por esses tantos mares sem farol nem telégrafo nem reza que lhe valesse. Antônio era chegar virava, mão dele e cana de leme nasceram gêmeas. Sua bebida era barco. Pegasse um leme, estava satisfeito. Sempre ela esperava — que Deus o livre, por um portador ou aviso das almas — o afundamento do barco; sim que alagação já houve e sempre o Antônio se livrava, por oração ou bom guia, salvando sempre o barco. como naquele mês que tirou o «São Jorge» da lama gulosa, na Costa. Tão enfeitiçado pelos barcos como nunca se viu. fadado a ter seu fim pilotando.
Contar que apanhou dele, isto, jamais. Dessa passagem a mãe se guardava e não era por isso que certos silêncios dela lhe tornavam mais escuro o rosto, convulsa a boca ao sair da dispensa? Tio Antônio. muito curumim levado pelo dom, começou fazendo gravetos pro 244 o cozi|nheiro ,depois cozinhando, sobe mastro, engancha, desengancha nó, recolhe pano, içou, arriou, baldeou, fundeou. desceu ao fundo para ver o ferro, toda a carreira até piloto; quanta trovoada fustigou seu corpo. Bem feito. Não fustigou a irmã? A mãe, era ouvir o nome do irmão, não ficava prosa por não ser de sua índole, mas se via o entre-sorriso.
Neste instante, Alfredo joga n’água livro, professora, Barão, o francês do Cara-Longe, a deusa de seu Antonino. nascendo do casco de caranguejo, que todos viessem a este colégio; em vez do perfume da professora Maria Loureiro Miranda, este cheiro de cabos, bijarruna, bailéu, esta mão preta do leme, entrando no rio.
— Agora o meu bom sobrinho vai passar a noite em Santana. Tem uma festa. Dançar não sabe? Pois aprende.
Assim falou o tio que entregou o leme ao tripulante, pediu café, deu um bom suspiro, consultou se deviam jantar a bordo ou na festa. Apetecia-lhe aquele gordo cozido de pescada sobrando do almoço.
— Pra vocês dois, em terra tem banquete.
O tio Sebastião, na popa, acenava para a beirada escumosa. Parecia mais alto, silencioso, como se estivesse se restituindo a estas paragens, esquecidas no Rio de Janeiro. Olhando o tio assim, Alfredo, de repente se culpou: no seu magma-magma, nem se lembrava de Libânia e do Antônio, o amarelinho, principalmente este para juntos desatar o nó da ilha das Pombas. Criado nas Ilhas, Antônio sabia o dom delas, com o faro em cima do que faziam pelo escondido das noites. Antônio mariscava para as cobras de poço, contou uma vez que levou comida num balaio para uma boiúna no Guamá, esta lhe agradeceu, desceram ao poço, que aconteceu no fundo, o Antônio nunca disse. E aqui bastava ver a ilha para avaliar. Devia trocar perna no Acará o perninha de grilo. Ou remando nos rios verdes de cima, ao pé do forno da feiticeira velha, ali com Deus te ajude.
— Estudou muito?
O tio Antônio perguntava. Assustou-se, respondendo, no Virar a mão que: mais ou menos. Um pouco se sentia 245 na obrigação de dar melhor resposta, até julgando que o tio, também trabalhava, corria perigos, cumpria o fado do mar, para vê-lo estudando, vê-lo doutor, moreninho mas doutor. Mas mais doutor que aquele tio? Doutor, não, almirante, não de uniforme, sim pelo porte, o negror da face, o meio cerimonioso em dar uma ordem, o olhar na proa e o «Santo Afonso», manso, na maior obediência.
E não sabia como se distribuir entre os dois tios, entre o mistério do toldo e o trabalho de atirar fora os pesadelos de Belém. Queria ouvir ao mesmo tempo o tio Antônio e o tio Sebastião que lhe diriam coisas de que tinha muita fome, para limpar seu limo. Pelo menos, das duas ilhas, uma, por certo, ia desencantar, esta no toldo. O tio Sebastião dava um sorriso muito para desconfiar. Se fosse de novo a Irene, raça de parideira, pegando filho como caroço de açaí na várzea? A Dolores fugindo da família, cheia de um filho não do tio, este no sul, agora se valendo dele? Era. Outra não era! Mas quando a viu na Basílica, estava grávida? O tio carregando a que emprenhou do outro? Bem, estava pra ser mãe? Se valeu do tio? Eu também trazia. Mas não. A perna vista não era a alvinha de Dolores, não.
Arriou ferro. Tio Antônio não atracou. Desembarcariam num bote. Bom este baixar de vela, as vergas se acomodando, tudo isso fazia sentar as coisas dentro do peito. De repente gritos cruzados de barcos, montarias. de terra. No escurecimento da noite, sozinho Alfredo sentiu-se, assim como se lhe doesse estar voltando a Marajó, com um pressentimento a lhe dizer: te fias que voltas a Belém? Adeus, estudo. Uma coisa te prende neste escurecer, nestes gritos, como este ferro no fundo. Ou é a morte da mãe e Andreza para sempre, para sempre perdida?
O rio, com o seu silêncio, entrou em Alfredo como um sono.
Quis só ter olhos para Santana. Mas sem desembarcar no trapiche nem iria ver a casa de pedra e telha onde passavam o verão as moças fazendeiras. Na varanda 246 contava o pai, ficava armada a rede do dr. Bezerra, larga como um leito, embaixo a marrequinha mansa beliscando o pão. Santos de uma tal beleza, segundo o dizer da mãe, moravam na capela. Podia ver? Casa, capela, santos, tudo proibido de olhar. Sairia dali algum caminho invisível para a ilha das Pombas? Os santos, se falava em Cachoeira, tinham um tal brilho que, em certas noites, saia pelo telhado a sua cor de ouro, dourando na sombra os morcegos e as corujas. Agora estava muito escuro, os santos não se acendiam ou varavam o invisível até a ilha das Pombas para navegar? Convento foi, em Santana, também engenho, os frades moeram cana, moeram escravo no tronco de espinho, restava ainda a calha d’água. Tio Sebastião contava, primo Pio, morador de Santana, agora ausente, confirmava. Na capela, depois da meia-noite os frades rezavam missa? Seus cativos africanos, agora soltos na desforra, permitiam? Desapontado, Alfredo não via nem ouvia. Do barco se olhava a beirada de breu. Santana também proibida. Tudo em redor recendia a encantado. Uma bela tarde, foi tomar banho no rio a moça Jacirema, jacaré levou ela prum perau, poço muito do fundo, de onde borbulhava suspiro e queixa da prisioneira. Lua cheia, quando muito calmo o rio, assim pela madrugada, um ai! ai!, mas por demais sentido, corria na flor d’água.
Tio Antônio tomou o seu banho de balde na proa, o mesmo fez Alfredo. O outro tio, não. Espiou para não ser visto na camarinha onde a senhora não dava nem sinal, e caiu n’água, em pelo, dizendo que ia dar boa noite aos jacarés, levar notícias do Rio e de Belém à moça Jacirema. «Olha, olha, jacaré», avisou o irmão. Mas o teimoso deitou-se macio no colo da água onde via o paraíso. Na verga do primeiro mastro, Alfredo só olhava. O nadador, à luz da proa, boiava como se viesse cheio de escamas, oleoso de sementes. Fazia barulho, batendo mapoonga para espantar jacaré e gritava: boa-noite, meu tinga. Meu açu! Me leva um recado pra Jacirema. Ó Jacirema, rapariga, estás me escutando? Com o rei dos jacarés, casaste? Ou foi o capitão da ilha que te mandou buscar?
Alfredo, desinquieto, entre as antigas assombrações que o tio lhe despertou. Mas acreditar acreditava? Fosse 247 mais menino, sim, Lucíola ,foi o que fez, incutiu nele tanta estória, visões, certeza de que o rio virava gente. A própria mãe, zombeteira de tudo isso, não cantou naquela noite de São Marçal a morte do rio? Mas agora? Não era mais? Idade, Barão, a Passagem, lhe arrancavam a fantasia. Ao deixar de acreditar, doía? O tio n’água, nos gritos, a alegria dele, — erê, mãe do rio, me coça o peito! — lhe tirava as crenças? E vinha o nadador por baixo do barco, roçando na quilha, bateu no costado, falou alto da tarde em que a irmã, a Amélia, quase quase, na frente de Araquiçaua, ia para o céu por dentro de um açu biguane comedor dos patos de seu Reis.
— Comigo, não, que me curei.
— Fazendo assim barulho, até eu sou curado.
Foguete nas bandas do barracão da festa, chamando para a ladainha. A capela pendurava sino? Chega, meu tio, desse banho arriscoso. Não impaciente os jacarés que são bons de gênio. Nas intimidades com a sua comadre água, o tio virava muçu.
Alfredo correu para a popa, escutou: roncava a baía. Bom estar aqui a salvo enquanto lá fora cai que tempo! Ao pé do leme, o tio chamou-o, lhe mostrou coisa semelhante a cobra peixe raiz, não viu bem: tio e água num demais pegadio. Depois o muçu sumiu-se. Alfredo quis chamar, escutou, já noutro ponto, em cima dum pau de bubuia, o assobiar do peixe negro. Apitou lancha — «Ondina»? — vozes de uma canoa que passava e luz nenhuma na casa grande, na capela nem dos santos de Santana. Alfredo instava para que o tio largasse o banho. O tio ali agarrado. Não só nas águas se banhava mas nas lembranças do Arari, encontros com a Dolores, como se ela estivesse pelo remanso, amorosa no seu ninho de espuma. Tio Sebastião queria soltar no fundo as tantas contrariedades, as notícias sobre Dolores, Dolores indo e vindo de Belém a Cachoeira, toda a tarde na janela de São Mateus, o carmim na boca, saindo do Bosque? Esperando a volta do tio ,viajava o seu desassossego? Daqueles dois qual o mais teimante? Dolores. e o tio porfiavam em saber qual feria mais, qual ganhava? Incandescente com o alvor de Dolores era o negror do tio.
248 Tempo-tempo que Alfredo não via, e ao vê-la teve um dos seus espantos: A Dolores bem mudada, adeus que era a empoada de farinha de trigo, no balcão vendendo roscas, não mais aquelazinha curiosa e assustada dos primeiros dias da São Mateus. Carmim no beiço, as orelhas enfeitou, um ar conhecedor de coisas, loja, bonde, passeio. e no falar usava mais esses. Viu-a junto da coluna na Basílica de Nazaré, missa das dez, domingo. Por efeito, talvez das luzes do fundo, dos altares acesos, o gemer do órgão, a cerimonia da missa, Dolores parecia ir num repente meter-se num daqueles vitrais lá de cima. Não rezava nem ajoelhava, ao pé da coluna, muda, à espera de ser colocada no altar. A dois passos dela, o cabo fardado, sério. Quem tinha vindo do Rio, ele ou ela? Para não olhar a namorada, tio Sebastião ficava admirando miudinho coisa por coisa na Basílica. Alfredo quis sair, ver Dolores fora dos vitrais, da música, da missa, vê-la de carne e osso no largo de Nazaré. E o seu espanto crescia: Deus! só uma formiga do diabo tinha tal força de fazer moça tão branca, como se fosse a luz por dentro, estar ali ao pé do tio, O tio feito um que nunca viu igreja, no mesmo disfarçar, pois da Basílica ele só via Dolores. Missa era só ela.
Nem a mão da moça o tio pegou, ambos encabulados. Na porta da Basílica, feito um general, ele avançou para o largo com um andar de quem desfila, sempre a dois passos dela. Ela ajeitou o chapéu, tinha o perfume diferente das professoras, esperou o bonde. Tio e Dolores não se falavam. Ambos nos seus orgulhos. Ela sem sinal de que conhecia semelhante cabo. O cabo na mesma moeda, Depois foi o tio dizendo-lhe, baixo: até.
Ela tomou o bonde, unicamente dela, enchendo o bonde com as cores de seu vestido, as fitas do chapéu, o perfume, o saber sentar que a cidade lhe ensinava, nem uma vez se dobrou para ver tio e sobrinho. Alfredo se lembrou do caso de seu pai e mãe. Ia se repetir nesses dois de agora, sendo preto o homem e a mulher branca? Os dois faziam um par ou de muito escândalo ou de muita admiração e benza-te Deus. Houve um instante, no caminho entre a Basílica e a parada de bonde, que o tio emparelhou com 249 ela, alto e sério: dela o branco e dele o preto. o casal não produzia surpresa nem zombaria — Alfredo notava —mas espanto aprovador. Viam no preto e na branca, o Adão e a Eva que viessem unir as raças e começar de novo o mundo.
— Chega de banho, rapaz, vamos pra ladainha.
O grito do tio Antônio ecoou pela beirada. Do tio Sebastião nem um sinal?
— Vá ver que jacaré levou ele, gracejou o tio Antônio vestindo a sua camisa branca. Um foguete acendeu-se. estalou, e Alfredo descobriu o tio na praia, no mais escuro, mas quem? Quem que via pensativo, quem? O tio? O tio triste? Que tristição essa, meu comedor de gordura de cobra, pela taoca mordido? Postema no peito? O rio lhe deu na fraqueza, como quem come mocotó? Conversando com os caruanas?
— Tio, na hora!
Pulou no bailéu escorrendo, aquele veludo molhado.
No toldo, à luz do farol, a passageira, de costas, penteava-se. Pelo tom respeitoso, com que falava à dona, o tio Sebastião não tinha a menor com a mulher, Alfredo entendeu, e isso complicou mais um pouco a curiosidade e o mistério. Por entre o mato, acendeu-se um farol. ou facho, apagou-se; pelo sopro, desembarcou um clarinete, ensaiando, deu uma nota alta que embebeu na folhagem e ficou ressoando.
No toldo o tio e a desconhecida conversavam. O tio veio.
— Meu filho, tu não podes agora saber quem essa senhora é.
Alfredo, num desamparo. Por que me trouxe nesta viagem? Os tios prontos para desembarcar. Em cima do toldo, na sombra, a mulher, de costas, ia, pela mão, do tio Sabá, descendo para a catraia. Alta era, um pano no ombro, o vagar das prenhas. Descia também na mão do tripulante o pé da açucena. Alfredo via na mulher a cidade salvando suas crianças, a moça do gergelim cobrindo o rosto num terrível espanto diante da espada e da pata 250 do cavalo... As duas ilhas desta noite não decifrou. O rio afogava as últimas vozes de Belém, engolia o jogo, a conferencia dos doutores, toda a cavalaria. Voltavam a coaxar as ciganas, na faixa do aningal. Em vez de alívio de ter deixado Belém, Alfredo num azedume, fora daquela conspiração em torno da passageira, no sentir-se só que lhe grudava os pés no barco. Tinha aqui fora aprendido muito mais que no Barão. Ainda não era para quebrar num baile, como os tios? Não saber as coisas, eis o conselho dos mais velhos. Não saber as coisas! No baile da Semíramis, as meninas riam dele. A ladainha e festa iam fazer principiar dentro dele o rapaz? Melhor dar parte de doente, dormir no barco. E ânimo de ficar só, Deus deu? Pelo menos, no barco ancorado em posição de enxergar a ilha. A baía urrando o seu mau tempo. Lembrou uma viagem com o pai, passando a noite no Araquiçaua, o trovoar longo e longe da baía lhe causava fascinação, terror, o seu travesseiro na rede. Aqui zoava mais grosso, mais verdadeiro, figurando um monstro com seus arpões de vento e raio em cima dos navegantes.
Tentava distinguir a casa grande entre os coqueiros. Só via pedra ou que julgava ser pedra. Dava um respeito o pedregal no escuro, as velhas pedras, pedra, pedra, com que queria feito o chalé de Cachoeira, dela devia ser a pedrona inteira da igreja de Santo Alexandre onde, cumprindo pena, secou a moça, por malvadeza com a mãe. Pedra, de que era feito o Araquiçaua — quem sabe também o seu Raimundo Reis, um homem de pedra, na cabeça do trapiche olhando os seus bodes? Pedra a beira de Santana, onde muita gente desejava ver a sede do município, não mais em Cachoeira. Pedra que ali era! Um sangue duro, entre barro, a areia, a lama, os siris da maré. Como no Araquiçaua, entre pedra e calha d’água deixada pelos frades. Agora dos frades tudo caindo, menos os paredões de pedra. Os pretos carregavam a pedra, da pedra tudo fazem, menos sua casa e sua liberdade. Deles — pisando pedra — veio a mãe, os tios, deles o sangue que queima o peito ao ver pedra; queria furar aqui. ali, e ver onde os pretos de Santana guardaram as suas lágrimas e o seu cantar. De que escravos vinha a família? Da África a primeira carga?
Todos aqueles pretos e pretas do Arari, Ponta de Pedras, Itacuã, Araquiçaua, Santana, os negros do Igarapé Panema, Muaná, todos de sua família trabalhando para os frades, os viscondes, tinham feito aquele forno de padaria do Araquiçaua que mais semelhava, certas noites, uma grande sepultura para os viscondes e os freis. Bem que o preto Bernabé do Araquiçaua, aleijado de jacaré, deve ter chegado para a ladainha. Jacaré comendo a Clara, levando a Jacirema. quase levou a mãe. E estavam sumidos os paredões de pedra, a mãe gostaria de morar num chalé de pedra aqui em Santana, vizinho da baía. Daqui de Santana, no bem calmo da noite, se podia ver o clarão da cidade que gostava de comparar com a aurora boreal, vista no dicionário. Agora, o clarão era o velório dos mil anjos.
Tio Sebastião tocou-lhe o ombro.
— No barco fica o menino. Vai saltar um cavalheiro. No barco ficava o menino. As calças curtas não queriam dizer nada? E a voz de frango que já se ouvia?
Alfredo escutava, querendo saber mais de sua voz, seu crescimento, seu fôlego de passar uma noite dançando. Encabulou. Temeu que o tio caçoasse. Com muita pena pediu que o tio falasse de Santana — já estava em terra a que vai ter um filho? — Dolores gostava mesmo dele? Pergunta que não fez por saber maldosa, deu-lhe a satisfação vingativa de espicaçar o tio, O tio começou a falar dos frades de Santana. Os frades surravam o escravo, se ouvia gemer negro nos ferros e nos espinhos do tucumãzeiro.
— Esses frades só a fogo.
Esquisito, pensou Alfredo. Seu tio havia se despido daquela grandeza que lhe deu em Cachoeira. Voltava cabo, do Rio, viu-o na Basílica ao lado da Dolores. Foi porque o pegou pensativo na praia, encolhido como um uruá? E achava, em Cachoeira, que o tio bastasse assobiar no mato e logo os bichos corriam a lamber a sua mão.
— Frades malvados.
O Tio Sebastião condenava. Índios e negros, todos os pobres, na mão dos frades, e tomem! e tomem! o sangue escorrendo na vazante, o sangue nos paus fincados na lama, 252 tingiu para sempre o pedral de Santana e Araquiçaua. hoje se ouve no rio e na pedra, escravo gemer.
— Este rio escutou. Guarda no fundo muito sangue e lágrima.
— Os índios gemiam?
— Meu sobrinho, índio é nosso próximo. Mais, porque é inocente. É o Adão e a Eva e a serpente. no bom conviver. A cascavel tem maçã pra dar?
Frades de batina imunda traziam a maçã, as cordas ferozes volteavam no lombo africano, no lombo índio, as selvajarias. Deus entrava nos inocentes a peso de chicote. Mas era o Diabo que entrava.
— De que valeu? Que ficou? O engenho cadê? As ossadas dos frades sabrecam no inferno.
Tio Sebastião queria sabrecar a Dolores também? A moça branca fazia parte da pedra, dos frades, na escuridão? O aningal a modo que fosforescia?
Tanto que se falava de. certas noites, ouvirem o mover do engenho, a moição da cana, o cantar dos negros. Então a ilha era dos negros que fugiam pela maré e iam de velas para a África?
Alfredo até queria, que acontecesse um assombro: a ilha dando a sua volta no rio, os negros amarrando os frades na pedra, moendo os cruéis na moenda.
— Uma passagem, cunhado! Eh, cunhado!
— Cunhado é a vossa mãe, toma bença do teu padrasto.
A voz atravessava o rio. Tio Sebastião nem ria, não era o mesmo, falava um pouco pesado, o tio fraquejava? A voz do tio Antônio perdia o tom de comando, para ganhar o tom despreocupado e distraído como o seu barco.
Um farol apontou. Alfredo olhou as estrelas. Tremiam com o tremor da baía jogando?
Veio um mano no bote que levou tios e sobrinho para a praia. Tiveram que tirar sapato, passaram um pedaço d’água, limparam as pernas no capim que Alfredo reconheceu o mesmo de Araquiçaua, um capim d’água, às vezes áspero, outras cetinoso, é de onde o camarão tira a barba, 253 ou pasto de peixe-boi? Na enchente, o capim coleava. sumindo-se. Vazou, boiavam limosos, com a grude dos bichos, ou lisos por terem os botos nadado em cima. Traziam o verdume das rãs arrepiadas, na correnteza ver aranhas verdes.
Sabendo que o sobrinho enxergava mal, Sebastião o guiava pelas estivas de miritizeiro, passagens de pedra, renteando o paredão, açaizeiros, coqueiros, pedra aqui e ali de apoio ou pontudas, um molhado pedregume, escorregoso. Na mão do tio que nem se andasse cego, Alfredo deixara-se levar pelo caminho invisível, visitando os santos acesos pelos anjos, ou pelos olhos do corujão? Mas caminhar era sempre arriscado, mesmo na mão do tio. Continuava muito escuro, saltou um sapo que pareceu descomunal, nem um vaga-lume? Os tios acendiam fósforos, preocupados com o sobrinho. Este, preocupado por dar trabalho.
— Me largue a mão, tio. Eu sei.
— Guarda a sabedoria pra quando tiver óculos, meu ceguinho.
Melhor ter ficado no barco. Ceguinho é o avô.
— Não ande solto, menino, que dos buracos pode pular cascavel. Costuma ter muito. Me de a sua mão. Você me guia e eu lhe guio, os dois se ajudam.
Era o tio Antônio.
— Esses cascavéis são os frades.
Disse o tio Sebastião, como se cascavel também morasse no seu peito.
Alfredo se viu no abraço de um senhor baixo, cabeça grande, queixudo, um rir de muito agrado e cuidadoso recebimento.
— Mas muito do bem aparecido! É o seu sobrinho, mestre Antônio Piloto? Boa a travessia? Antônio Piloto em nossa casa? São Sebastião faz milagres. As ordens. cavalheiros, Casa ás. ordens.
Era o dono do barracão, o Diretor da Irmandade de São Sebastião de Santana.
254 — Mas que novas me trás daquela mortandade de tanta criancinha, mas que desconformidade, nem os doutores acertam o diagnóstico, mas possível?
E puxando o tio Sebastião para um lado:
— Com todo o gosto, seu Sebastião, agasalhei a sua recomendada, a distinta senhora. Único a deplorar foi ter de mandar embora um meu sobrinho, ferroado de arraia, ainda bem inflamado. É um veneno ficar ao pé de pessoa assim grávida. No mais, em circunstância desta, o próximo se ajuda. Aqui é, sim, de toda a conveniência. Casa do parente dela é par de estirão. Será levada cedinho depois da rezação da folia, amanhã. Mas o meu parecer... e por dias ou por horas? Suspeito que tenha de tirar uma penosa do poleiro e queimar alfazema. Mas graças a São Sebastião, o que não falta nesta choupana é com que fazer uma dieta, um caldo. Por isto, não.
Isso que foi dizendo, a filha veio: se podia começar.
— Ainda estou aqui na cumprimentação dos convidados, mea filha. São Sebastião não requer pressa. Quem tem pressa, benza-me o Altíssimo, é o Cão com o seu enxofre. Tirar uma ladainha requer um bom vagar. Tudo bem acaba quando feito vagamente. Casa às ordens, cavalheiros. Rogo. a boa harmonia para o inteiro regozijo. Acenderam as candeias no cocal? Quero tudo no bem clareado, não digo por uma pavulage. Escuro nem na morte, que esta o santo alumia. O mais é rir das nossas desconsolações.
Falou da veneração da imagem: ladainha e dança três dias, o povo sabia com muita antecedência e voz corrente. O santo saia de esmolas pelo rio, com os donativos mensalidades jóias da Irmandade, o Diretor custeava a festividade, religiosa e profana. Os devotos chegavam tanto dali do juntinho como das longiquidades. Lugar no barracão para rezar e dançar, não havia de faltar, cabia, fosse o maior peso dos convidados, a sociedade do rio, conhecidos e não conhecidos da navegação, desembarcasse, des-que trouxessem respeitosidade e bom conviver.
— Acendam os fachos. Clareamento aqui é com o sair da lua. As ordens, São Sebastião vos recebe. Que ninguém tropece na soleira. Aqui sendo tudo da chã 255 po|breza não é de cerimoniosidade. A rigoridade aqui é o saber respeitar. Tudo o mais é sem enfeite.
Alfredo admirava no sisudo e divertido Diretor o paletó lustroso, o gomado da camisa listrada, o alfinete tal qual um vaga-lume na gravata, no cabelo a brilhantina e o distintivo da Irmandade na lapela.
— Um governador — segredou-lhe o tio Sebastião. Logo apagou do rosto o ar de troça, a escutar do irmão que conhecia muito o Diretor, senhor de suas artes, suas trapaças, seu cerimonial no falar e no fazer, e em meio de tudo isso era de muita festa, tão devoto da boa saia e do bom beber quanto o era de São Sebastião. Não dizia barco mas balco, dando garbo ao nome.
— Quer ver... um momento, seu Almerindo. O amigo já foi caldeireiro...
— De felro, lhe confirmo o dito. Caldeireiro de felro. Ainda cardero um pouco. Tostei a testa no fogo. nas cardeações. E sou um pouco de felro. Quer algum felro no seu balco?
Mas vigilante na ponta da viga sobre a porta de entrada, a crista agressiva, o bico brabo, o papagaio dava o alarma:
— Não pode entrar! Não pode entrar! Sai! Sai! Sai!
Alguns convidados hesitavam, rindo. Tio Sebastião piscou para o sobrinho. Seu Almerindo abria a casa, o papagaio fechava.
— A casa é vossa! Bem-vindo todos! era o seu Almerindo recebendo.
— Não pode entrar! Não pode entrar! Sai! Sai! Sai! era o papagáio trancando a porta.
— Ali é o avesso do dono — murmurou o tio. Alfredo ria, divertido, os dois Almerindos, um daquela noite e o outro de todo dia; até que a filha mais velha apanhou o papagaio e o levou, passando-lhe um carão. Mas da prisão. o alarma vinha:
— Não pode entrar! Não pode entrar! Sai! Sai! Sai!
256 E veio o seu Almerindo:
— Seu Antônio, aceite o meu requerimento, quer que o nosso santo faça, amanhã, uma visita ao seu balco? Dispensa? Basta o nome de santo tão favorecedor que o balco tem? E o piloto, os caruanas protegem, guardado com orações, guardado sempre seja. Ou me diz que não?
Deu a risada, já se cobrindo de festeira surpresa ao receber a família de seu compadre de rio Tomalá, com bem bagagem e família. Mas o compadre se abalando de tão longe! A fama da festa em Santana ia-que-ia saltando os estirões.
— Basta que lhe conte, acrescentou com súbita serie(jade, que o meu amigo Antônio trouxe passageiro diretamente à festa. Aqui o mocinho que estuda em colégio em Belém. O seu Sebastião soube do festejo ainda no Rio de Janeiro e seu pensamento foi cumprir sua promessa pelo bom sucesso que teve no manejo das armas e no cumprir a disciplina na Capital Federal, graças ao São Sebastião.
— Não se espante, meu sobrinho, oiça e guarde, segredou o tio piloto. alisando o rosto, brejeiro.
— Este nosso São Sebastião, aqui da brenha, destas pedras, tem os seus anzóis e linha para pescar as boas almas. Não é para a Irmandade se gabar, mas festividade corno esta, modéstia de lado, não é de uso e costume por essas paragens e mares. Corra muita lonjura e reme muita maré para ver uma. Me contesta o sr. seu Antônio Piloto, o sr. que é embarcadiço da costa a fora?
— Das que eu vi, nem uma iguala, isto é uma verdade.
— E o seu testemunho, seu Sebastião, o sr. que eu sei que tem calcanhar fino de andador de mato, subiu o Amazonas conheceu, afinou os olhos nos centros mais adiantados.
— Estou inteiro ao seu lado, seu Almerindo, pode escrever. Já o meu irmão me havia avisado em viagem. Este meu sobrinho aqui está de boca aberta.
— De coração agradeço os louvores, que não é para insignificante pessoa mas ao Mártir ali no seu modesto 257 mas honrado oratório, ao General cujo martírio foi para a maior glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. O nome do menino? Menino? Com esse bom par de perna? Já é bem rapaz, daqui a um instante um cavalheiro, pouco é o tempo que conta para chegar a homem. Alfredo, o nome de batismo? Aqui seja bem-vindo, sou o Almerindo Gonçalves de Sousa e Lima, criado ás ordens, antigo caldeireiro de ferro, criado na ferrugem, aprendiz em artes de pescaria em arpoagem e linha, cortei borracha, no regatão vendi por esses rios muita fazenda, muito perfume, muita fantasia, corri o Guamá, fumei nos tabocais do Moju, farinhei no Acará, dou conta de uma ladainha, marco regular uma quadrilha, cavoco na tabuada, um cristão de tão pouco préstimo, crente de que ganho indulgencia. O sr. meu filho, é filho do Major Alberto? Fina pessoa o seu pai. Muito me louvo conhecer seu pai. Aqui os fogos, o escrito do programa da festividade com imagem gravada, tudo em tipo de jornal, foi donativo do Major, uma especial deferência. Que em paga São Sebastião tenha sempre o seu pai na Secretaria Municipal, que é o posto dele por direito e boa escolha.
Alfredo, sem uma palavra, num temor de desapontar os tios, estes interessados em ouvir e ver o desembaraço do sobrinho, por ser de estudo, estudava em Belém.




Biblio VT




O Major Alberto, a d. Amélia e o filho vieram ao Muaná passar a festa da Conceição. No desembarcar, o Major e o chalé separaram-se, ela e filho para a barraca do pai e ele a casa legítima onde o esperavam as filhas de matrimônio e a antiga viuvez.
Tecendo cestos e paneiros, de que tirava meio sustento, o velho Bibiano, pai da d. Amélia, morava retirado, debaixo de seus cajueiros naquele suburbinho da vila por nome Areinha mais estrada que rua, a pé vinte minutos da igreja, do trapiche e da caninha diária do balcão do seu Epaminondas Aguiar. «Aqui me ajuntei com a Vicência, que lá em cima esteja, a tua avô, esse — menino, aqui chocamos a nossa ninhada de pretas, vi todos irem-se embora, menos este, dado com santo, bunda neste chão grudada, este-um aí o Ezequiel. Isto aqui nunca que teve aforamento, devoluto é. A barraca? Esta, foi, se armou num putirum, aqueles bons tempos, também os santos não ajudavam? Tempo de boa índole. Foi. Daqui eu me mudar? Me escuta, meu neto, tu aí menino, esse teu pé no bostoque, sim, vai-é-que-vai correr terra muito ar do mais variado no teu nariz no teu bobó muita viagem, as sete léguas, mas eu? Meu mapa é este aqui, na mocidade, umas navegações pelas Ilhas, um e outro espiar na cidade, me agasalhando ali no Ver-o-Peso debaixo da vela. Fui de andar muito sossegado. Vagareio neste 10 chão, Da feita que fiquei, fiquei, o calcanhar anda pouco.
Tecendo cestos e paneiros, de que tirava meio sustento, o velho Bibiano, pai da d. Amélia, morava retirado, debaixo de seus cajueiros naquele suburbinho da vila por nome Areinha mais estrada que rua, a pé vinte minutos da igreja, do trapiche e da caninha diária do balcão do seu Epaminondas Aguiar. «Aqui me ajuntei com a Vicência, que lá em cima esteja, a tua avô, esse — menino, aqui chocamos a nossa ninhada de pretas, vi todos irem-se embora, menos este, dado com santo, bunda neste chão grudada, este-um aí o Ezequiel. Isto aqui nunca que teve aforamento, devoluto é. A barraca? Esta, foi, se armou num putirum, aqueles bons tempos, também os santos não ajudavam? Tempo de boa índole. Foi. Daqui eu me mudar? Me escuta, meu neto, tu aí menino, esse teu pé no bostoque, sim, vai-é-que-vai correr terra muito ar do mais variado no teu nariz no teu bobó muita viagem, as sete léguas, mas eu? Meu mapa é este aqui, na mocidade, umas navegações pelas Ilhas, um e outro espiar na cidade, me agasalhando ali no Ver-o-Peso debaixo da vela. Fui de andar muito sossegado. Vagareio neste 10 chão, Da feita que fiquei, fiquei, o calcanhar anda pouco.
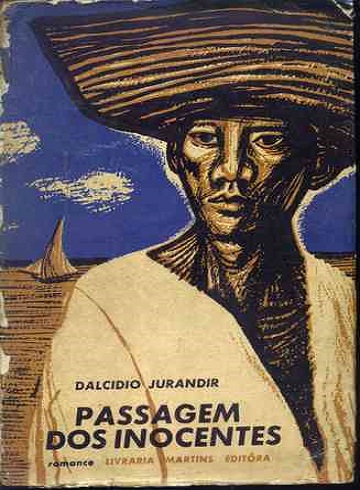
Não me queixo. Me finquei, daqui eu me mudar? Concordo, me mudo, mas de canela esticada, boca dura, levado de pé junto para aquele sempre nosso rumo. Mas porém só o corpo, este que a terra pede, lhe apetece? Pois faça bom proveito, jante o velho, não lhe gabo o gosto. O espírito, não. Aqui fica, pendurado no esse da rede, na cumeeira ajudando o cajueiro a dar caju mais doce. Ou pelos ninhos perto. Ah que fico-fico. Mea alma é-é deste mundo. Ela no outro? Não tenho vão, do céu não sei o rumo, não me arrisco. Inferno? Purguei aqui, a purga é pouca, não peso, não pequei mortal. O Além? O Além é aqui mesmo Está aí no tajazeiro, dentro dum bicho. eu sei- As almas vagam mas aqui, rente. Lá em cima é privilégio, é o lugar da tua avó, da tua maninha, a anjada toda. As iguais a esta minha? É o pó deste ar. E este lugar, senhor meu neto, escreva, este aqui não me desgosta. Fico, não subo, também naquele tacho fervendo não desço, o pé não ponho. Fico. Escutou, meu capitão?. É. E o que escutou guarde.
Escutou, guardou, mas muito do admirado. Dá cada um avô. O avô, calombento, andava um pouco de banda, o peito ossudo, queixoso dos rins; do cabelo cinzento as. moitas em volta da careca tostada, um olhar de zangadão fingidor, mesmo dizendo uma graça era sisudo; mesmo com a caninha lhe subindo, o sempre pausado no falar. Tinha uma voz de provérbio. Sentado no molho de cipó, entre os cestos de tala ainda verde, o avô destrançava as fibras, ou no mochinho a enfiar tala por tala, os dedos, que pareciam entrevados, no tecer tão maneiro, tão sabidos, o avô dedilhava. E Alfredo teve uma semelhante visão: o avô não tecia, tocava. O cantar, o gemer, o bulício das folhas e do chão saíam de sua harpa. (Que harpa, Alfredo via, horas, no Dicionário). Os cestos e paneiros enfeixados noutra manhã, lá se’ iam no ombro. do avô para o trapiche Entre o avô e os miritizeiros havia uma sociedade. Das folhas de miriti que trazia, compridas ripas, saía que saía paneiro, quanto? E aqui, em casa era todo de miriti o paredame da cozinha, varanda, fundos, porta, janela de miriti. Até possível seria que ao ver o velho, os miritizeiros avisavam: lá vem o nosso 11 bom Bibiano O miriti era o fio de sua fiação, dizia. E do miriti dava ao neto os frutos luzentes duros casca vermelha polpa dourada. Quem mandava para o chalé aqueles paneiros de miriti era sempre o avô. As frutas na dispensa iam aos poucos amolecendo, ou coziam na lata d’água fervendo, delas a mãe espremia o vinho. Bom camarada o miriti, caroço grelando no caminho do igarapé onde, na enchente, as frutas bubuiavam, já moles, que Alfredo com delícia descascava, devagarinho comia. Seguiu uma vez o avô até o miritizal, o velho ali sentava, também miritizeiro, silencioso; antes de apanhar as palmas olhava os seus iguais um a um, como se quisesse mesmo ser um deles, ou dentro de cada, um visse uma pessoa de seu sangue. Essa manhã no miritizal tirou do Alfredo um pouco do azedume trazido de Cachoeira, dos poucos dias de chalé.
Ah! que veio de ferida aberta. Carregando aquela visão dos Alcântaras na casa de Nazaré que só faltava dizer: vou cair, pensou sossegar um pouco em Cachoeira em companhia de Andreza. Mal saltou, e Andreza? Foi procurando sem perguntar a ninguém, a indagar só das coisas, da pontezinha sobre a vala, dos velhos cachorros e velhos urubus, ela cadê, me, dêem ela. Disfarçando a busca, por quê? não sabia, procurava. Correu os lugares de Andreza, seus esconderijos, tão dela! O pardieiro, onde morreu o tio, ainda cheirava àquela agonia, do velho rendido, dele a solidão e a cabeça do cachimbo ali esquecida. Restava o chão liso, e aquele pedaço, já podre, encharcado da última chuva, da esteira onde coitadinha, ela dormia, E no algodoal bravo, não? Quem sabe no ferreiro: a forja apagada, em cima da bigorna, o pinto pelado entanguido que nem velho; na rede bem baixa que roçava o chão o seu Bento, a barba de trapo, num olhar de ferro em brasa sobre o visitante: aqui, de Andreza nem fagulha.
Vamos que debaixo do trapiche do Saiu se esconda, dentro da barrica das roscas, num abatumado de folhas de jenipapeiro, a remendar tarrafa no jirau da nhá Porcina? Alfredo desentendia. A ausência dela desfigurava o rio, misturava caminhos, esta parte naquela; Andreza, não 12 estando, desmanchava tudo, era um desrumo, agora tudo desencontrava. Rio e chão desconheceu. Uma noite no chalé: Andreza, Andreza! acordou chamando. A mãe, até essa hora sem uma palavra sobre Andreza, fez que fez uma indagação pela vizinhança: Andreza estava no Por Enquanto, outra fazenda que o dr. Lustosa com os seus dentes de arame farpado abocanhou. Por que a mãe, ele chegando no chalé, não falou de Andreza como se nunca tivesse Andreza no mundo? Vendo que nem um caso o filho fazia para saber de Andreza, a mãe não só estranhou, como tinha as suas razões, se quisesse. de dizer: eu que me dou por achada? Aqui me fecho, meu partioso, põe teu cachorro no rastro, desencava com a tua perna, disfarçado.
— Já sabe, não? No Por Enquanto, antes lá que aqui batendo perna.
— Ora, mamãe, se foi nome que nem pensei. Pelo nome dela que chamei, sonhando? Não. Um puro pesadelo. Que quero dela, eu ligo?
Mas foi ouvir, falar, escoou-se pelos fundos do chalé, pegou a correr aventurou-se campo acima direto no Por Enquanto. Deu com a cerca de arame, a mão na farpa, em risco de se cortar. A quantas braças, numa boa distância, na ventania morna, a casa do Por Enquanto, de madeira, um barco no descampado, a proa sob as cinzas e fumo do campo que um fogo queimou; o alpendre pintado de branco e alto que nem uma vela içada; deu mais vento, a casa parecia velejando ao sopro dos lavradões; nisto eivêm uns cavalos assanhados, meio desembestados, aí que levantou poeira, um poeiral sobre o sol, espantado, lá no fundo. Deu-lhe um repente, de gritar. Andreza! Andreza! O grito na goela, tossiu com a poeira, quase a cortar a mão no arame e ai! a formiga de fogo bem na costa do pé, deu um salto, só dum pé, a mão no outro, o capim espetava. Que Andreza virasse um sumiço, por isto até suspirava, ela e esta formiga a mesma coisa era, todas duas do diabo. Que suma, oh alívio, crie bicheira, se aposteme. Por deixar de ver Andreza fico cego? Se a voz dela não oiço, surdo fico? É a comida que como, a água que eu bebo? Se ao menos a ordinária desta formiga fosse a tal taoca, que é só 13 morder, o mordido de muita moça é querido, coisa nenhuma, o tio Sebastião mentia.
Nas suas poucas tardes de Cachoeira, andou rondando a cerca. Proibido tirar lenha, dizia a tabuleta. E dava a volta, agora calçado, olhando só de longe. Nas janelas, ninguém-ninguém. Nem um vestígio da invisível nem na corda de roupa um trapinho dela, um assobio dos bem seus, este grito, uma idéia dela de aparecer no rolo de cinza no pé de vento, um ciscar aqui e ali de piaçoca arisca, aquele ar que Andreza espalhava, aquela poeira de seus pés, aquele espanto que ela deixava nos pássaros. bois, porcos, borboletas, sinal de sua passagem. Tão-só nas suas indagações, Alfredo ia, vinha, do seu sossego adeus. Ou estão me enganando? Andreza, quem sabe... voltava ao chalé, por dentro um formigueiro de fogo, corria, ficava em pé na janela olhando o rio, ou estão me enganando? Ela estava mesmo no Por Enquanto ou, igual a Maninha, debaixo... Comida das minhocas? Não. Aquele sonho era ela de verdade, como prometia, se deste mundo batesse a asa? «Se for minha sina eu morrer primeiro que tu, minha sombra não te deixa, na rede te cutuco, eu visagem, eu te prometo, prendo o teu anjo da guarda no buraco do meu dente». De noite, Alfredo nos embalos, altas horas, ouvia no vento, nos bacuraus, na lastimação dos bichos da noite, no silêncio que vinha dos campos, a Andreza repetindo a sua promessa. Abriu a janela, lá embaixo, se esvaindo, aquela tripa de rio. Ninguém tarrafeava. Lá estava a Folha Miúda, debaixo dela a Andreza fazia de conta que morava, estamos na nossa casa»; de barro os seus filhinhos, e agora, se é só uma sombra, podia voltar? A mãe enganava, todos mentiam? Saía do chalé, rodando os olhos, a noite soprava quente. Piava. Sapo na boca de cobra? Que-que se mexia em cima da Folha Miúda? De Andreza não se falava.
Belém sumia-se, Libânia, Antônio, os Alcântaras, sumiam. Andreza subia na pororoca, entrava no reino das formigas, Andreza no mastaréu do barco, ali na casa do tatu, aqui no ninho do japiim, pião virando na palma da mão, no assustar-se a iraúna no galho do jenipapeiro, Andreza na correnteza da vala... De dia, perguntar 14 não perguntava. Adotou um disfarce. Andreza era assunto só da boca pra dentro. Teria crescido tanto aquela arisca? Mudou num relâmpago? Da casca do ovo saiu voando?
Ouviu bater no chalé. Ela!? «D. Amélia, olhe, mandubé.» Um menino com a enfiada de quatro peixes e uma piranha de boca aberta, os dentes, os dentes de Andreza sangrando-lhe o peito Um vento de repente escancarava a janela? No pulo do gato quebrou-se o copo? Um redemoinho no cimo do ingazeiro? Andreza não era, Debruçou-se no poço do quintal, a água funda, um olho de zombaria. Andreza lhe feria no osso. A falta que dava! Esta fome de ver a desfeiteira, tudo que lhe cortava o sono, lhe tirava estas lágrimas ao pé do algodoal brabo, o que era? Qual a causa? Andreza não quis aparecer, me expliquem, quem me explica? Aqui, rente da cerca, ralhando debaixo das folhas, este-um, o sapo, queria explicar?
No corredor o rastro dela, os pés na escada, sua voz feita uma borboleta que sempre foge às nossas mãos, lá vem, lá vai, escondeu-se na telha, a voz, o passo, ah, venenosa, endemoninhou-se, s6 a Inocência, agora empregada na Madre de Deus, poderia ensinar a oração que amanse, faça Andreza chegarzinho bem perto ameigando a voz: Pois foi, Alfredo, uma saudade... pela luz divina que foi, eu tive.
Santa Rita de Cássia, do meu pai, imagem que nunca veio pelo correio mas devoção sempre deste meu pai nem que seja no catálogo, se condoa e traga do Por Enquanto aquela braba, sumida pelo diabo, filha adotiva das onças, ou já novilha? Quem sabe não anda pela fazenda fantasma dos Meneses catando os ossos do irmão assassinado?
Mas indo no trapiche, ficou debaixo do jenipapeiro, remexendo as folhas do chão, cheiravam os jenipapos: até invejou o fumar de um vaqueiro ali de cócoras entre camaradas: chapéu de timbó, aba larga e cerigola puxava o trago como se sentindo longíssimo. Assim valia fumar para encontrar Andreza, agora que nem no caroço de tucumã ela está. De repente foi ouvindo que andava pelo Por Enquanto uma pequena em cima de cavalo em pêlo, na malhada, na garupa de vaqueiro, comia nas trancas do 15 curral a mal-assada das ferras, dum bezerro curou a bicheira. Cabeça tinha. Ia longe. O vaqueiro estoriava, abrindo um jenipapo mal maduro, como se abrisse aquela de quem falava. Alfredo tão zinho sentiu-se, ah, perdia a sua musculatura estudando em Belém e a endiabrada a virar moça nos atoleiros no meio de onça, dela a escola era um lombo de búfalo, ali em cima do que faziam os garrotes nas vacas, o porco nas porcas o cavalo nas éguas? Uma pura perdida? O vaqueiro contava numa admiração tão satisfeita, nos gabos, e comendo o jenipapo. ah que ela era, era! Alfredo, nos olhos do falante, olhou bem fino, como se dentro dos bugalhos oleosos do caboclo visse ela, aquela tão gabada, dali a quisesse tirar e aqui fora lhe dizer: te piso, viu? Debaixo do meu pé, te deixo. E aqueles dedões do vaqueiro que reviravam boi, a semelhante munheca bem criada, já teria tocado nela .segurado pela cintura, como segurava o rabo das novilhas e abria o jenipapo? E quem sabe, façam uma idéia, na ilharga dele, a assanhada bem se rindo, fazendo parte: mas não faz, Mondoca! Eras! Teu apresentamento com outra! Eu. não, vê lá! Se outros não ligo, jamais tu, te mira, me larga, mas é!
O vaqueiro desabotoava um riso de uma dentadura de tão bom osso. No luzir da risada a cara de Andreza. No gume daqueles dentes o cangote da selvagem. E parecer que Andreza dentro do vaqueiro se metia, que este, para sempre, dono-dono dela ninguém mais podia duvidar? Ela brincava de se esconder nos olhos de Mondoca, na mão do domador de poldros. Saía das palavras do vaqueiro a voz da arisca e logo recolhia-se debaixo daquele couro alazão de cavalo. De Andreza o vaqueiro tudo sabia, sabia?
Correu que correu pela beirada do rio, de Andreza nem sombra? Mais nunca?
II
Foi chegar em Muaná, aquele avô, tão de repente! Também de repente o goiabal atrás do cemitério, — era que nem ver Araquiçaua, o sítio de trapiche alto no Arari, 16 onde as goiabeiras no pedral tão carregadas ofereciam suas goiabas a remeiros e canoeiros do rio. Goiabeiras tão conhecidas, um pouco velhas, sabe lá como viviam naquele pedregulho. No seu cheiro andava também o dos bodes do seu Raimundo Reis, os bodes berrando ao pé d’água querendo marrar os jacarés e os botos lá fora de bubuia. Aqui no Muaná era um goiabal gordo com o estrume dos defuntos vizinhos, sempre carregando. As goiabas cheiravam a anjos, a curumim verde, nem bicho tinham. E depois desse goiabal, o passeio com a mãe e ah! este cheirume de chão aqui ao pé da casa: «aqui nasceste, meu filho» lhe diz a mãe. Aqui nesta.
— De telha, mamãe?
A mãe fez muxoxo.
— De telha, foi. Mas não te gaba. Foi só pra mim te descansar. Tu mal descolaste o olhinho e já eu na barraquinha do teu avô. De telha basta o chalé. Aqui, meu louro, é a minha pele, esta, o pé no chão e a palha em cima.
A casa de portais escuros, sem reboco, um pouco pensa, como se o telhado pendesse para um lado e o corpo da casa para outro. A sala de puro aterro, umas cruas tábuas soltas no quarto que fedia a ungüentos e a cera de santo; ao pé do jirau, um tristinho fogão com um peixe sabrecado na trempe fria. Fora, o pilão emborcado. a panela e planta pendurado no esteio, os verdoengos feixes de varas, e da mulher a cara tão amarela mas, meu Deus, por que tão amarelona? Alfredo queria ouvir ali o seu primeiro choro. Aquela mulher, rosto de manga descascada, tinha escutado, tinha? O seu primeiro grito entre os gritos da mãe, é macho, cortou o umbigo, dá cá o penso, e outra mãe lhe dando a primeira mama, que a mãe mesma leite ainda não. O cheirume aumentava. A mulher, conversando com a mãe, exalava sobre as coisas o amarelo de seu rosto rodeado de um cabelo cor de palha, um cabelo que ali grelou das sementes trazidas pelo vento, pela maré no banho, ali deixadas pelos japiins mas agora palha seca. Este cheiro foi o incenso do parto? Me deram banho lá atrás onde passa o igarapé?
17 E tudo isso acabou de lhe sarar as postemas de Cachoeira. E então quis ver Semíramis.
Era a menina que ele, num baile encontrou, faz três anos, nas Fontes. Ao pé da janela, a mão na veneziana. daí Alfredo não saiu, só mesmo apreciando. Tinha mais menina que moça. No corredor, a música e um jarro com flores. A varanda abria-se para os canteiros de bogaris e tajás com as pessoas mais velhas em cadeiras de embalo, então que conversavam. As meninas tomavam conta da sala, umas com as outras dançando, iam lá dentro, voltavam comendo, com um ar de tirarem doce escondido ou riam do que viam pela alcova, ao pé da música, quebraram um jarrinho; riam até por falta de que rir. Também ele, numa comparação, riu: as meninas deviam só elas viver no mundo. As pessoas da varanda, catarrentas, grandudas, muito ajuizadas de cara, não mereciam senão o rir, o muito rir daquelas meninas. E foi que uma, de olho escurinho, pestanuda, deu: que faz ao pé da janela aquele socó murcho, aquele zinho espião? Ia, vinha, tirava uma linha, dançava com a outra, riam a mais rir, depois, séria, o rente dele e rodopiava, mal mandava um dos seus olhares pestanudos flechando escuro, sorriazinho meio proibido, dom tinha, sim; nele aquelas pestanas aveludavam-se; foi; o baile, adeus, sumiu. Alfredo com elas ficou no sono, noites, todas dentro do jarro de flores ou saindo do bocal da flauta, noites, quando que se esquecia? Cachoeira. Belém, Cachoeira, vai, vem, e a menina ia, vinha, visão entre sonos, cuidados, um baile que nem o de Andreza a fazer de conta. Um dia, um dia, no Muaná, havia de ver aquela menina, o nome dela Semíramis. E agora em Muaná, querendo vingar-se de Andreza, andou na vila, passou, repassou, o coração apressado pela porta das Albuquerques, pela janela das Fontes. Lá na parede da sala o mesmo espelho em que Semíramis no baile se mirou, devia era ter-se virado num retrato dela, ali sempre. Fugiu, pois não lhe pareceu que no espelho, escanchada no cangote do vaqueiro, a Andreza ria?
Rodou na primeira novena, até que na Areinha, um tanto afoito, passando por umas pequenas se atreveu a perguntar: mas cadê aquela, a Semíramis? Pois não é que tinha no bando uma prima da procurada? Ela, ladina, 18 tirou a pergunta a limpo, pegou falou: ah, vou dizer pra ela que tem um moço de Cachoeira, o filho da siá Amelinha do velho Bibiano, que anda perguntando por ela. Ah é? Pois, não, meu cavalheiro, recado dito, recado dado. A ouvir a oferecida, Alfredo quis lhe cortar o passo, «estava brincando». Falou mas a pequena voava.
Semíramis mandava dizer que nome dela não era para andar pela Areinha em qualquer uma boca, na língua dum pixote, fosse tirar a tisna, se enxergasse. Queria ele, sim, mas carregando água pra cozinha, levar os xarões de doce pro leilão, cada atrevimento, aquele pirralho, axi! Alfredo nem o resto ouviu, correndo da pequena que ria atrás: pensava que eu era espoleta, era, meu engraçadinho. te ardeu?
Alfredo, mais calmo, se deu conta. Semíramis se valia das brancuras da família, parentes de posição em Belém, o avô teve escravo em Muaná. Lembrou o cuspo da mãe no rosto, branco-branco, de uma das Gouveias. Mas noutro dia não foi que outra pequena procurou ele, com um recado? Semíramis mandava desmentir aquela resposta, era invenção da prima, desculpasse, esperava então por ele no canto da rua da professora Santinha, pé do cercado, ali no meio escuro, não tinha um carrapatal? Pois ali defronte. Alfredo, primeiro crente, logo de orelha em pé, foi. Foi como quem não quer, maré me leva, maré me trás, sempre, escondidinho espiou: Ela estava, sim. Não? Outra? De rosto nas mãos, ela mesma, a menina do baile? Rodou o olhar e viu atrás do carrapatal, todas abaixadas, o monte das moças, das meninas... Recuou a tempo, sem ter sido visto, mas como se tivesse, como efeito, caído na arapuca, levado a vaia.
No último degrau da escada do trapiche, rente d’água, sentou-se, dobradinho, a maré já dava. Ah, eu mais que depressa rapaz, ir lá, pular dum encanto, lhe arrancar as pestanas, uma a uma. E no passar da água ali nos pés lhe pareceu ouvir um risinho, o de Andreza: foi um peixe boiando.
Na mesma noite no arraial, acabada a novena, Alfredo estremeceu: as Albuquerques! Sem ser visto, debaixo da luz do carbureto, viu a menina. Menina? Agora, sim, sabia! Era, meu Deus? E ela enfiada numa corrente das 19 colegas deu com os olhos naquele espantadinho, um instantinho o bastante para que as pestanas nele se enfiassem como agulhas... Alfredo escorregou-se pelo meio do arraial, sumiu levando aquela visão de menina morta e da moça agora feita, inteira, mulher-mulher. E dela, das pestanas afiadas, ele saía em carne viva, mais pixote do que nunca. Atrás dele, pareciam rir. O carrapatal explodia em riso. Andreza num poldro do Por Enquanto, a assobiar, a soltar: arre! arre! cresce e aparece, primeiro enterra o teu cueiro!
A palhoça do avô, sentiu escura-escura, o chão molhado cheirava a um adocicado de cutiti, a tala verde dos cestos e paneiros. E eu que vim da cidade, lá estudo, via as coisas... As meninas não eram mais. Só eu não crescia conforme? Uma coisa que me faça logo um rapaz ah, eu queria. E foi sentindo, sem saber bem, que dele uma parte morria com as meninas. O olhar, já tão maduro hoje, de Semíramis moía ele bem miúdo. Por dentro um rapaz, por fora pixote?
— Mamãe! A senhora está aí dentro? Mamãe!
Ninguém. Só este escuro, o chão cheirando, aquele caroçal de açaí grelado ao pé do parapeito da cozinha, estas talas verdes, cajueiros estes carregados mas sem um maduro. Sentado nas raízes. Alfredo fez que se aquietou, a cabeça entre os joelhos. Levantou-se ao ouvir tão perto cochicharem. O tio Ezequiel? Era. Chegava com uns amigos. Pararam na boca do terreiro. Baixo falavam. Não demorou, lá se foram. E mamãe? O avô? Nessa escuridão aí do quarto eu entrar? Lá atrás da capoeira, dos paus de lacre, cantou um riso alto de mulher, longo e saboreado. Aos poucos foi clareando o terreiro, na palhoça as duas janelitas escrito os olhos de uma coruja. Que diferente do cheiro, do silêncio, da própria escuridão lá do chalé. Aqui é cheiro de chão em tudo. Depois, era só Andreza e Semíramis que cheiravam,
— Mas, meu filho, aqui na raiz? Feito um pato, a cabeça embaixo da asa? Por que não armou a rede, não sabia onde estava o palito, a lamparina?
Tão assim de repente, de onde ela apareceu? Ah mãe mágica!
20 E viu que ela acendia a lamparina, armou as redes, cantarolou, indagou do coqueirinho dos fundos:
— Mas como é. rapazinho, e o teu coco? Ora, te cria!
Alfredo escutou, tão coqueirinho com o próprio. A mãe falava que tinha encomendado uma abelheira, ia dar mel no chalé. O farol acendeu no rosto dela um pretume satisfeito, de boa baunilha, a mãe calma. E aquele cochicho lá fora, na volta do caminho, do tio Ezequiel com os seus camaradas?
— De telha, mamãe?
A mãe fez muxoxo.
— De telha, foi. Mas não te gaba. Foi só pra mim te descansar. Tu mal descolaste o olhinho e já eu na barraquinha do teu avô. De telha basta o chalé. Aqui, meu louro, é a minha pele, esta, o pé no chão e a palha em cima.
A casa de portais escuros, sem reboco, um pouco pensa, como se o telhado pendesse para um lado e o corpo da casa para outro. A sala de puro aterro, umas cruas tábuas soltas no quarto que fedia a ungüentos e a cera de santo; ao pé do jirau, um tristinho fogão com um peixe sabrecado na trempe fria. Fora, o pilão emborcado. a panela e planta pendurado no esteio, os verdoengos feixes de varas, e da mulher a cara tão amarela mas, meu Deus, por que tão amarelona? Alfredo queria ouvir ali o seu primeiro choro. Aquela mulher, rosto de manga descascada, tinha escutado, tinha? O seu primeiro grito entre os gritos da mãe, é macho, cortou o umbigo, dá cá o penso, e outra mãe lhe dando a primeira mama, que a mãe mesma leite ainda não. O cheirume aumentava. A mulher, conversando com a mãe, exalava sobre as coisas o amarelo de seu rosto rodeado de um cabelo cor de palha, um cabelo que ali grelou das sementes trazidas pelo vento, pela maré no banho, ali deixadas pelos japiins mas agora palha seca. Este cheiro foi o incenso do parto? Me deram banho lá atrás onde passa o igarapé?
17 E tudo isso acabou de lhe sarar as postemas de Cachoeira. E então quis ver Semíramis.
Era a menina que ele, num baile encontrou, faz três anos, nas Fontes. Ao pé da janela, a mão na veneziana. daí Alfredo não saiu, só mesmo apreciando. Tinha mais menina que moça. No corredor, a música e um jarro com flores. A varanda abria-se para os canteiros de bogaris e tajás com as pessoas mais velhas em cadeiras de embalo, então que conversavam. As meninas tomavam conta da sala, umas com as outras dançando, iam lá dentro, voltavam comendo, com um ar de tirarem doce escondido ou riam do que viam pela alcova, ao pé da música, quebraram um jarrinho; riam até por falta de que rir. Também ele, numa comparação, riu: as meninas deviam só elas viver no mundo. As pessoas da varanda, catarrentas, grandudas, muito ajuizadas de cara, não mereciam senão o rir, o muito rir daquelas meninas. E foi que uma, de olho escurinho, pestanuda, deu: que faz ao pé da janela aquele socó murcho, aquele zinho espião? Ia, vinha, tirava uma linha, dançava com a outra, riam a mais rir, depois, séria, o rente dele e rodopiava, mal mandava um dos seus olhares pestanudos flechando escuro, sorriazinho meio proibido, dom tinha, sim; nele aquelas pestanas aveludavam-se; foi; o baile, adeus, sumiu. Alfredo com elas ficou no sono, noites, todas dentro do jarro de flores ou saindo do bocal da flauta, noites, quando que se esquecia? Cachoeira. Belém, Cachoeira, vai, vem, e a menina ia, vinha, visão entre sonos, cuidados, um baile que nem o de Andreza a fazer de conta. Um dia, um dia, no Muaná, havia de ver aquela menina, o nome dela Semíramis. E agora em Muaná, querendo vingar-se de Andreza, andou na vila, passou, repassou, o coração apressado pela porta das Albuquerques, pela janela das Fontes. Lá na parede da sala o mesmo espelho em que Semíramis no baile se mirou, devia era ter-se virado num retrato dela, ali sempre. Fugiu, pois não lhe pareceu que no espelho, escanchada no cangote do vaqueiro, a Andreza ria?
Rodou na primeira novena, até que na Areinha, um tanto afoito, passando por umas pequenas se atreveu a perguntar: mas cadê aquela, a Semíramis? Pois não é que tinha no bando uma prima da procurada? Ela, ladina, 18 tirou a pergunta a limpo, pegou falou: ah, vou dizer pra ela que tem um moço de Cachoeira, o filho da siá Amelinha do velho Bibiano, que anda perguntando por ela. Ah é? Pois, não, meu cavalheiro, recado dito, recado dado. A ouvir a oferecida, Alfredo quis lhe cortar o passo, «estava brincando». Falou mas a pequena voava.
Semíramis mandava dizer que nome dela não era para andar pela Areinha em qualquer uma boca, na língua dum pixote, fosse tirar a tisna, se enxergasse. Queria ele, sim, mas carregando água pra cozinha, levar os xarões de doce pro leilão, cada atrevimento, aquele pirralho, axi! Alfredo nem o resto ouviu, correndo da pequena que ria atrás: pensava que eu era espoleta, era, meu engraçadinho. te ardeu?
Alfredo, mais calmo, se deu conta. Semíramis se valia das brancuras da família, parentes de posição em Belém, o avô teve escravo em Muaná. Lembrou o cuspo da mãe no rosto, branco-branco, de uma das Gouveias. Mas noutro dia não foi que outra pequena procurou ele, com um recado? Semíramis mandava desmentir aquela resposta, era invenção da prima, desculpasse, esperava então por ele no canto da rua da professora Santinha, pé do cercado, ali no meio escuro, não tinha um carrapatal? Pois ali defronte. Alfredo, primeiro crente, logo de orelha em pé, foi. Foi como quem não quer, maré me leva, maré me trás, sempre, escondidinho espiou: Ela estava, sim. Não? Outra? De rosto nas mãos, ela mesma, a menina do baile? Rodou o olhar e viu atrás do carrapatal, todas abaixadas, o monte das moças, das meninas... Recuou a tempo, sem ter sido visto, mas como se tivesse, como efeito, caído na arapuca, levado a vaia.
No último degrau da escada do trapiche, rente d’água, sentou-se, dobradinho, a maré já dava. Ah, eu mais que depressa rapaz, ir lá, pular dum encanto, lhe arrancar as pestanas, uma a uma. E no passar da água ali nos pés lhe pareceu ouvir um risinho, o de Andreza: foi um peixe boiando.
Na mesma noite no arraial, acabada a novena, Alfredo estremeceu: as Albuquerques! Sem ser visto, debaixo da luz do carbureto, viu a menina. Menina? Agora, sim, sabia! Era, meu Deus? E ela enfiada numa corrente das 19 colegas deu com os olhos naquele espantadinho, um instantinho o bastante para que as pestanas nele se enfiassem como agulhas... Alfredo escorregou-se pelo meio do arraial, sumiu levando aquela visão de menina morta e da moça agora feita, inteira, mulher-mulher. E dela, das pestanas afiadas, ele saía em carne viva, mais pixote do que nunca. Atrás dele, pareciam rir. O carrapatal explodia em riso. Andreza num poldro do Por Enquanto, a assobiar, a soltar: arre! arre! cresce e aparece, primeiro enterra o teu cueiro!
A palhoça do avô, sentiu escura-escura, o chão molhado cheirava a um adocicado de cutiti, a tala verde dos cestos e paneiros. E eu que vim da cidade, lá estudo, via as coisas... As meninas não eram mais. Só eu não crescia conforme? Uma coisa que me faça logo um rapaz ah, eu queria. E foi sentindo, sem saber bem, que dele uma parte morria com as meninas. O olhar, já tão maduro hoje, de Semíramis moía ele bem miúdo. Por dentro um rapaz, por fora pixote?
— Mamãe! A senhora está aí dentro? Mamãe!
Ninguém. Só este escuro, o chão cheirando, aquele caroçal de açaí grelado ao pé do parapeito da cozinha, estas talas verdes, cajueiros estes carregados mas sem um maduro. Sentado nas raízes. Alfredo fez que se aquietou, a cabeça entre os joelhos. Levantou-se ao ouvir tão perto cochicharem. O tio Ezequiel? Era. Chegava com uns amigos. Pararam na boca do terreiro. Baixo falavam. Não demorou, lá se foram. E mamãe? O avô? Nessa escuridão aí do quarto eu entrar? Lá atrás da capoeira, dos paus de lacre, cantou um riso alto de mulher, longo e saboreado. Aos poucos foi clareando o terreiro, na palhoça as duas janelitas escrito os olhos de uma coruja. Que diferente do cheiro, do silêncio, da própria escuridão lá do chalé. Aqui é cheiro de chão em tudo. Depois, era só Andreza e Semíramis que cheiravam,
— Mas, meu filho, aqui na raiz? Feito um pato, a cabeça embaixo da asa? Por que não armou a rede, não sabia onde estava o palito, a lamparina?
Tão assim de repente, de onde ela apareceu? Ah mãe mágica!
20 E viu que ela acendia a lamparina, armou as redes, cantarolou, indagou do coqueirinho dos fundos:
— Mas como é. rapazinho, e o teu coco? Ora, te cria!
Alfredo escutou, tão coqueirinho com o próprio. A mãe falava que tinha encomendado uma abelheira, ia dar mel no chalé. O farol acendeu no rosto dela um pretume satisfeito, de boa baunilha, a mãe calma. E aquele cochicho lá fora, na volta do caminho, do tio Ezequiel com os seus camaradas?
III
Como de fato, Ezequiel não quis copiar os irmãos que corriam mundo. Foi-se acomodando na vila; nas ladainhas, se ordenou rezador, cabeça de reza ao pé dos oratórios da Areinha, zelava pela igreja, roupeiro de Nossa Senhora e das missas quando de Belém, todo fim de ano, vinha o padre, aquele mesmo de sempre, o padre Pinheiro. Da Areinha só se abalava mesmo para o Círio de Nazaré. em Belém. Viajava de favor na canoa «Deus contigo», amassado entre a carga dos romeiros, açaí e frasqueiras de cachaça. No Círio, acompanhava descalço a romaria. atirava a sua promessa de cera no Carro dos Milagres. ia na novena. Chegar lá dentro, dentro da Basílica, meio espremido, um tanto vexado, dava o seu trabalho, que dissesse a Mãe Ciana com quem sempre naquelas imediações se encontrava. A modo que a santa, em seu muito íntimo, no que dizia, melhor fazia: pra entrar nesta casa, purguem aí um pouco na porta as suas culpas. suem as impaciências. Tão pouca porta para tamanho poder de gente entrando! Daquela moição toda, Ezequiel deixava o seu caldo, o nosso caldo amargo à porta da Basílica. Esta, oi igrejona avantajada, posta lá em riba pelo ombro deste povo, aqui e ali vergado, rim doendo, varado de moléstia, aflição, esperança. Vissem o Carro de Milagres, recolhendo as promessas cumpridas, carregado de cera, carregado das nossas chagas, os tantos muitos padecimentos. Desde que ano te fizeram, até quando vão te acabar? Esses padres! E tanta comparecência, tinha que tinha 21 vivente na terra, cada um ali trazia na verônica o chão de onde veio. Só mesmo havendo Deus pra .dar conta, com Nossa Senhora de ama. Bem em cima, entre dourados e alvuras, Nossa Senhora de Nazaré apreciava. Só a alumiação do altar podia alumiar dobradas vezes Muaná, podendozinho espichar um fio da eletricidade até a Areinha. Nossa Senhora lá em cima se fazendo tão zinha nem por isso deixava de estar metida entre estas nossas cruas consumições e sujidades. Olhava os mais pequeninos aqui embaixo, os mais rasos, este um, aqui este Ezequiel da Areinha, este preto papa-camarão, cuja única habilitação capaz de ser conhecida pela santa era — não dizia por gabo — saber tirar uma ladainha no Muaná na falta dum padre. do padre Pinheiro. Possível, em hora daquelas, dentro da Basílica, rezar em sossego? Cristão que er32640563a uma danação, me perdoando a Virgem a heresia, se soltei, me limpa a boca, água da pia, a pia seca, saio de vista escura, Sim.
Aqui fora, o Ezequiel tirava uma linha dos divertimentos do arraial, esconjurava. ria daqueles diabos no ar puxados pelo motor de lenha e com desmiolados dentro voando, aquilo zunia, raspava as ventas no balanceio, risco de cuspir os voantes em cima da sumaumeira da calçada. E as bancas de bebida no tal de um despropósito, a espuma das cervejas e as misturadas nas roupas e na cara dos que só iam no Círio para um carnaval? E o letreiro, cada pintura das revistas de teatro: delas ouvia o que dizia este e aquele canoeiro que ia ali espiar: lá no palco aquela-uma, olhem a coxa, o rabo feito roleta rodando na vista das famílias, e o salgado das representações, chova indecência das bocas no palco. Tudo não era do diabo, desta nossa humanidade nua e crua? Fizessem isso noutro lugar, que eu santo não sou, arrisco o meu rabo de olho quando posso mas no lugar devido, aqui no arraial não aprovo, defronte da Basílica, devia ser sério. Fugia para a bordo. do «Deus contigo», Nossa Senhora que fizesse a maré já dar, levantar pano, me embora.
Naquele ano, seja por influência do Major, graça da Padroeira ou reconhecimento do Intendente, Ezequiel. que não sabia ler, ouviu, com um edital, em papel colado na porta da Intendência, lerem a sua nomeação para 22 adminis|trador do cemitério semprezinho um ganho por mês. Foi quando chegou a irmã de Cachoeira.
Tão de surpresa chegou, naquela segunda feira, que Ezequiel não esperou nem o sábado, para fazer a sua surpresa também: na quinta, dez da noite o mais tardar, tinha reunido, na boca do caminho que dobra para o terreiro, quase a Areinha em peso. Dedo no lábio, ordenando silêncio, tudo preparou e «vamos meu pessoal» comandou baixo, agora a mão na boca para não rir alto, logo fazendo ciiiu «baixa o assanhamento, gente»... ao burburinho dos que principiavam a caminhar. E foi aquele lá maior do violão, o primeiro foguete, a flauta, as girândolas, o terreiro cheio, até o bombardino amassado e encardido do Teotônio, e entra chocolate pelos fundos, pendura luz no coqueirinho, nos cajueiros, depressa o xarão de doce, água borrifa o chão da sala e o terreiro para sentar a poeira e d. Amélia pulando da rede com o filho do outro lado, corre, destampa o baú, apanha a pluma, desata rede, num tempo empoa-se, e já as moças no quarto — enfia o vestido tão amassado da viagem — ah Ezequiel esse teu juízo... que-que te assanhou? — anda, Alfredo, os sapatos, Mãe de Deus! E Ezequiel dando as ordens, verdadeiro mordomo de arraial, exibe na porta o carbureto emprestado ao seu Aguiar, acende as velas no oratório: «primeiro rezar, herejes, depois a pavulage» e logo se desculpando: festa não era, a significância estava na boa intenção, a satisfação de quem via a irmã, dois anos sem ver, era demais? E se rezou a ladainha, enquanto ás pressas um capado sangrou no terreiro vizinho, esfola, talha e trás para o preparo nas mãos das mulheres. Alfredo boquiaberto. Esta não esperava. E com aquele bombardino de ronco duro e o bando das moças esvoaçando no terreiro e em casa, sim senhor a mãe festejada! Bem empoada, pente alto na cabeça, a mãe, da ponta do terreiro à ponta do igarapé que passava a uns vinte metros atrás, não dava para quem queria, tantos e tantas a abraçá-la, e conversar, puxar pra dança. Alfredo via a mãe no xótix, na valsata com o irmão no terreiro, polqueiando com uma desconhecida e nem um hálito daquilo que a mãe tinha no chalé, nas feias noites de Cachoeira. De admirar, muito de admirar. As pessoas salvavam a mãe e cochichavam, Alfredo ouvindo: essa 23 rapa|riga é tal qual uma senhora, de seu bom nome, seu fino modo, sabendo bem tratar, tirando das mãos do irmão o governo da festa. Ezequiel, no seu vaivém entre os convidados e aparecidos, acomodava este, àquele dizia: «festa, mea gente, não era, nem arremedo, quem ele pra dar festa? Mas Alfredo estudava o tio: aquele ar do tio? Conversa! Debaixo da sua desculpa não ia um convencimento, uma certeza de ser mesmo uma festa? Queria era um não apoiado? Dava um doce se o tio não se desculpava por simples pávulo. por simples prosa. Que os santos te conheçam, tio fingido. Sim, que dizer, por uma comparação, que era um baile, baile-baile, não. Também isguete ou pagode, forró, quebra peito, arrasta-pé desses aí, não se chamava. Mais apropriado dizer: surpresa, pela chegada da irmã. E Alfredo assim, só olhando, só escutando, se deixava encrespar. Bem que queria parecer ali menino da cidade, chegadinho do seu estudo e não se sentia nem olhado nem reparado? Todos com o sentido na mãe? Os demais meninos, ali de pé no chão, abelhudos, com seus umbigos, farejavam os cheiros do capado no fogo, lambiam os papéis de doce atirados fora, a mão maneira no xarão que nem piaçoca pegando o peixe, ou entretidos com o bombardino. Nem eles me notam. E o bombardino, na boca, no beiço do Teotônio, fazia estremecer a barraca. Dedinho espetado, Alfredo desejava dizer: olhem, seus da Areinha, estou, aqui. hein? Estudo na cidade, na Estrada de Nazaré morei, vi dançarem ao som do piano, corri nos cavalinhos, quero contar do Bosque, já um de vocês na vida viu um navio inglês chegando de Lisboa, a pau e corda da sala de espera do cinema Olímpia com aquele professor, no violino, a cabeleira alva-alva de chegar parecer postiça e o rosto antigo-antigo?
Que nada! As homenagens? Só para a mãe. O bombardino botava Belém da barraca, os beiços do Teotônio babavam no bocal, a flauta lá em cima despetalava a valsinha. Andreza e Semíramis me pisaram; agora, esta noite; e só a mãe nas alturas? A mãe tinha assim tantos conhecimentos? Por que não contava deles no chalé? A mãe pouco ligava? Ligava, sim, agora não estava ligando? Vissem a satisfação dela, no olhar, no sorriso, na fala, dançando, ao fogão, no cumprimentar e receber, ao entrar no 24 quarto e empoar-se, ligeiro a pluma no rosto ao tempo em que tira a toalha do baú, estende na mesa, pergunta: hein, Ezequiel, seu doido, tu também não peitaste o Major de muitas artes? Ele não soube desta tua maçonaria?
No igarapé, vazando, moças iam, delas o único quarto se encheu, a pluma não dava, o pó voou; a dona da casa tinha um natural em servir, em empoar, em borrifar as suas semelhantes com estrato, o frasco de mão em mão, aqui tratavam ela por tu senhora dona você, ali mea flor tia prima mana madrinha adiante sobrinha afilhada colega mea pavulage esquecida dos pobres e sempre lembrada a desnaturada agora é só na Cachoeira comendo piranha, sua papa piranha!
Dessas liberdades, Alfredo pasmo. No chalé, fosse senhora de cima, fosse qualquer pobre de baixo, era sempre: boa noite, d. Amélia. E aqui as maiores intimidades? Vinha também o parentesco de São João — aqueles tempos de passar fogueira — agora a mãe pedia a bença dias madrinhas, abençoava uns curumins umbigudos, seus afilhados, chamada de meu cravo meu alecrim minha açucena, quem não fosse do sangue, da família dela, era por obra de São João, de São Pedro, tudo na mesma irmandade. Alfredo mirava a mãe: esta é a mesma do Cachoeira? Também, como o pai, se separava do chalé? Não era aquela, a bordo do «São Pedro» em noite de tantos mares, arreando-se a trovoada, os raios, no mastro e a mãe, guardando o filho, na boca do toldo. Aquele instante dela na luz dos raios agora lhe subia do coração. Agoniado, se chegava mais ao pé da mãe para lhe sentir o hálito. Não. De cheiro só o pó. Nem mesmo de tabaco. Mas um dos seus afilhados, a uma ordem dela, por um tostão, mais que depressa não podia ir na vila bater nas tabernas? A mãe festejada! Aqui, fosse viva, nhá Lucíola, contra o festejo, estaria ao pé dele, no mimo de sempre. Nhá Lucíola, sempre a sua sombra, a invisível mão a tocá-lo, a dizer-lhe numa voz ausente: não te quero crescido. Eu, agora, sou tua mãe, és meu filho, ninguém mais me impede. Meu pequeno polegar. Meu pequeno polegar. E foi um sobressalto ao ver a gordalhona, preta de cabelo pintando, no terreiro, a balancear as cadeiras, a larga saia de gorgurão, um paneirinho pendurado no dedo, 25 a abrir os carnudos braços para a mãe: Mas me toma a bença, pavulage, ou tu já deixaste de ser mea sobrinha? Bicha! Essa! Toma, te trouxe isto agora, o que eu tinha. te trouxe esta mangaba mas tu, cadê, cadê que tu merece? Até que eu nem devia... me mata, arrependimento — te ter trazido isto... Enfim, toma!
Alfredo correu atrás da velha que esta, mal entregou o paneirinho, das mangabas, já se enfiava para os fundos. debruçando-se no parapeitinho do copiar, junto dos potes d’água e das pessoas ali, de espia no xarão contra os moleques. Pessoas de passagem num pasmo: uai, pois a velha Eufrosina, esta que tanto caçoa da lágrima alheia, enxugando as dela? Amélia faz milagres.
Alfredo um passarinho aqui e ali, seus dois olhos não chegavam, outros, de sua imaginação, seu despeito, seu nascente orgulinho pela mãe, se abriam sobre o terreiro coberto de pretaria e gente alvaçoa. E foi, que ouvindo, abaixado, invisível, catando pedaços da miúda falância no terreiro, ao pé dos cajueiros, entre os mais conhecidos e parentes mais distantes da mãe, deu com esta conversa entre duas mulheres, a que amamentava o filho e a que fazia um pitó e daquelas palavras baixas tirava a limpo estas: ... as coisas! Estava ali a Amélia, quem visse a Amélia, soubessem quem foi a Amélia, aquela pretinhazinha assando camarão no espeto, joelho ralado de subir todo dia no açaizeiro, a perna cinzenta no Freixal tirando sernambi, depois nas Ilhas, lá nas Ilhas, meio errante, uma ninguém de olhar brabo na beirada, num saiote, o pé na lama... E na sua volta das Ilhas, no igarapé lavando roupa alheia? Vissem a próxima se fingindo de tão sossegada, já barrigudinha do primeiro — aquele que morreu afogado — o pai ninguém sabia, que ela jamais confessou. Pois naquele estado fingindo o mesmo sossego, não ensaboava as anáguas da Almerinda? A justamente Almerinda, Amélia sabia, a cuja que ia casar com o dito autor daquele inocentinho dela ali se gerando na coitada, a coitada lavando a roupa da outra... A própria Almerinda nem sabia. Nem mesmo Amélia fiançou perante o rapaz que fosse ele o autor, o pai. Nem as ripadas do irmão mais velho. Ninguém tirou dela um isto. Grudou o segredo dentro, fechou-se que fechou-se. Aquela? Da 26 feita que diz não, cadeado na boca, não verga, não tem fogo que derreta o ferro. Mas as línguas então! Que não disseram... Uns maldavam: Amélia não dizia, por não saber quem era mesmo exato o autor? Ela sabia, sim, sabia, pouco lhe doeu falarem assim, trancou-se, que em tudo aquilo com o pai da criança havia teia e só ela, a aranha, podia saber como fiou. Hoje...
Alfredo, o ouvido a arder, mordeu a folha verde, o beiço, foge daquelas bocas, vai, vem, sobe num galho baixo de cajueiro, desce, verte água ao pé do tucumãzeiro que lhe oferecia os espinhos, correu para onde estava mais escuro, falavam da mãe dele! Ali mesmo no terreiro do avô. Então, apanhando do irmão, sem dizer quem foi? Igual Irene? Pareciam-se? Da mãe dele, sim, verdade, falavam!
Ao pé dos matos que beiravam a estrada da Areinha para o terreiro do avô, teve de repente um alívio entre aqueles silêncios e rezinas. Do terreiro um rumor confuso, logo a flauta e o bombardino. Reinou sumir-se, a mãe dando por falta, suspende a festa, procurem o perdido, Santo Antônio invocado, as vozes no folharal: caiu no igarapé? Na mão da mãe do igarapé? Caiu naquele poço destapado da tia Ana ali no escuro? Cobra mordeu? Artes do tamanduá bandeira? Voltavam das irmãs: Lá que não está. E ele escondido, ou achado com muita febre debaixo do jirau da casa do seu Caraciolo onde os tajás chamavam as almas.
Se fosse embora para a casa das irmãs? Das filhas do pai não era irmão? O bombardino repetia tudo que ele tinha escutado daquelas bocas, o rum rum rum, agoniado, aquele pigarro, do bombardino, repetia, sim, bombardino de bastante idade, tocava o que ouvia falar. Então a mãe naquela noite, no chalé, do pé do fogão, coberta de cinza e lágrima, chorava também o filho que se afogou, não só Maninha? Chorava o que não chorou diante do irmão quando quis este lhe arrancar o nome?
O cochicho lhe roía o ouvido, que mais babavam aquelas bocas do diabo? Podia figurar a mãe antes de ser a mãe dele? Vê-la ensaboando as anáguas da outra, de quem lhe tomou o pai do seu filho, este ainda na barriga, 27 e todos os olhares e todas as perguntas, cortada em miúdo na Areinha? E essa Almerinda, que-que tinha de melhor, para merecer casar e a mãe, não? Não era preta, era filho família? Aonde anda essa Almerinda? Mas se Almerinda não casasse com aquele sem nome (é, o nome? quem?), e este fosse no igarapé tirar a mãe da lavagem e no juiz levasse ela; ou ver a mãe ao menos esposarana dele? Era eu que não nascia, filho que agora sou do meu pai Alberto. Bom ou não o que aconteceu à mamãe? Eu nascia? Era a minha mãe?
Desatar os tantos nós de tal pergunta Alfredo não sabia. Sim, que lhe deu um como um palpite, informe, de que a mãe se guardou naquele cadeado, sem dizer quem foi, porque uma sorte a levava para o chalé... Mas se o primeiro filho não tivesse se afogado? O chalé agasalhava? Não? Coisas deste mundo, dessas mães, das pessoas mais velhas, tão custoso esmiuçar! Aqui a mãe não era a que passeava em Belém, a que ia até no Teatro da Paz pelo braço do Major nem mesmo a de antes do Major, a de antes do filho afogado, a Amélia solteira, no trinque, de que falava a Mãe Ciana, tirando aquela fotografia ao lado das primas, no pescoço três voltas de colar. Esta mãe das bocas do terreiro não era nem de longe aquelas de Belém. Mas não bastando estas, outra mãe desconhecida não lhe aparecia no festejo do tio, no andor carregada? Era a mãe todas essas criaturas? Todos esses avessos cabiam nela?
— Mas aí, na beira do mato, feito um tatu?
Assustou-se. A mãe lhe trazia pela mão a menina, sobrancelhuda, cara papuda, cocó.
— Aqui a Antonica, meu filho, quer te conhecer. É a filha da Maria Miúda. Receba suas visitas, seu tio bimba, sempre o tio bimba? Quem vê ele assim é capaz de jurar que nunca botou pé na cidade.
Juntou a mão da Antonica na dele que logo retirou os dedos desconfiados, o olhar miudinho em cima da papudinha, daquele cocó. Que cabelão tem esta, já... Esquivo, se lembrou da barbearia da cidade onde rapou a cabeça, por engano, a pura matutice, «Escovinha» ordenou ao barbeiro, certo o pávulo de que ia cortar na moda. Ah 28 tio bimba, e tio bimba, volta a mãe a lhe dizer. E ali na barra do mato, um tatu diante da zinha de cocó, esta por dentro, por certo, bem nas suas caçoagens contra ele, essa papuda.. Que tinha a mãe de falar? Fosse a mãe contar alto no terreiro como num leilão que ele mandou pelar a cabeça, enganado. Todas essas vergonhas ele trazia consigo sim, e era como se Andreza já soubesse, fosse isso a causa dela ausentar-se do chalé. Mas vamos que pule agora na frente da mãe, mande parar a música, botasse alto a mãe em confissão: quem o pai do primeiro filho, que fim levou essa Almerinda? A mãe chorou, chorava pelo filho afogado? Quem sabe não estava ali, no terreiro, o pai misterioso? Certo de que o irmão mais velho, o tio Antônio, o piloto lhe ripou as costas, mamãe? Mamãe. Mamãe! Assim gritava em Cachoeira, batendo o pé no soalho, abrindo em choro, ao vê-la na dispensa, entrando e saindo, mamãe, mamãe! E assim ela, variando, fazia de conta que tirava do fundo aquele filho, o seu primeiro. vivo-vivo? Por ter sofrido, apanhado, traída, apontada na Areinha, fez daquele o seu filho único, a sua paixão, depois dele nem um mais? Acalentava elezinho dentro da garrafa, atrás do armário? Bebendo, via ele crescido, criado pelos peixes, caboclinho dos muitos dentro d’água sete anos encantado?
— Estudou muito? Fração, conhece? Viu lá em Belém, o Gentil, o colégio? As moças de uniforme? A Escola Normal?
A menina perguntava, muito desembaraçada.
— Sim, que era, era de mea escolha a Escola Normal, são cinco anos. Mas ah, aqui na Areinha, mamãe pode? Eu uma professora mas quando... Ah meu balão. Vento não me assopre. Eu quem sou eu.
Se essa menina, sem desarredar da Areinha, soubesse mais fração que ele? De ouvido mais fino ao que lhe dizia a gordinha de tão engraçado cocó, abrandou-se. Os dois chegaram para o pé do oratório. A menina apanhou uma folha de catinga de mulata, cheirou fundo, como se aspirasse a Escola Normal, a cidade, Alfredo baixou os olhos meio um culpado. Fingiu interessar-se pelo tão magro, tão cheio de fôlego tocador de bombardino, o 29 Teo|tônio, ai que se esvaziava todo no bocal do bombardino soprando a sua entranha, o baço inchado, suas lombrigas. O pé direito num tamanco, com ezipla, o esquerdo numa botina laranja sem cordão, botina? Chuteira, uma bicanga velha. Com a luz no bombardinista, o rosto era ver o metal do bombardino.
A menina lhe pediu que atasse no cocó a fitinha cor de rosa. Alfredo desajeitou-se, a fita fugiu-lhe dos dedos, o cheirinho a andiroba da papuda lembrava-lhe Andreza. a Libânia de Belém azeitando a cabeça no espelho da madrinha-mãe. Estava mal a mal dando o laço e deu com as moças, estas de camarote: Mas d. Amélia, depressa! É cafuné? Ah, madrinha Amélia, se chegue, chegue-chegue aqui num relâmpago, se admire...
Fugiu, a fita no chão, Antonica a gritar que não pisassem na fita. E agora pelo terreiro, a fugir de sua vergonha, Alfredo teve a sua atenção noutra conversa ao pé do monte de talas do seu avô: ... mas oh criatura, esta Amélia, não tinha brancume, nas alturas que ficasse, no braço do Major, descansando na Maternidade, de janela no chalé de Cachoeira, com o filho do Major se educando: nunca se viu e ouviu que Amélia torceu beiço a um, franziu nariz a outro, virou de banda para desconhecer um conhecido, metesse temperinhos, pavoa nos modos e no falar, preta, sim, de seus veludos, suas sedas, com pluma e extrato, tendo o que contar de teatro, cinema, arraial de Nazaré lá da cidade e sem um empavulamento que se dissesse, de comer manteiga sem se lambuzar, a preta bem gerada. Onde estivesse era ela sempre, tão despida, e aquele filho, na cidade, podia voltar, um dia, de diploma, um doutor, e com pouco um juiz, meter um qualquer branco no chinelo não podia, um dia? Até onde ia o filho dela, e quem era? De quem a filiação? Um puro neto do meu. do teu, do nosso pareceiro, o velho Bibiano, o sobrinho de quem? Dessa figura, o Ezequiel, rezador de orelha, que não soletrava uma data corrida. Assim era. Assim era. As filhas do Major, ninguém tirava esse direito delas, podiam dizer: essa, nossa madrasta nunca é, nunca será, mas que tem, lá, o chalé limpo, ninguém desmente, também nem é bom gabar, quem hoje anda asseada pode amanhã não tomar banho. E Alfredo se indagando: nem as irmãs 30 sabem do que se passa no chalé? E nesta indagação se distanciou do terreiro, acaso correu até a dobra do caminho para a estrada geral da Areinha e viu, na bainha do mato, sentadas na raiz, umas pessoas, mulheres, que nem sapos no oco dos paus, que riam, e de lá do terreiro chegava uma na carreira e gania o que lá abelhudou e assim Alfredo, sem ser visto, espião, logo pegou que ali só estava quem desfazia da mãe, da surpresa do tio, por inteiro debicavam do tio caçoavam, tinham as caras na sombra, apelidavam, riam, riam; de vez em quando uma saia para o terreiro, voltava com um doce, uma costela de porco, a de agora quis dar um pedaço a outra e esta: axi, porcaria! e cuspia. Cuspia. Todos cuspiam não só da festa, também do tabaco que mascavam, por simples e maldoso cuspir. Rezavam para que a festa acabasse em pau e tiro? Alfredo recuou, os risos chocalhavam, lá vai uma das cobras pro terreiro, aqui esta debochou na gargalhada, um tinha o braço enfiado numa gorda de cachimbo, o cachorro. no colo de uma alta, varuda, ladrava. Ali na sombra, na raiz, nos paus de sapo, cobra e caranguejeira, agourentas, num sereno longe; sim que serenavam por meio de estafetas, estes indo e vindo, cuspindo as notícias do terreiro. Espalhavam terra de cemitério no caminho do avo? Não saiu dali o mal que entranhou na mãe, que enche aquelas garrafas, o mal, a praga, ali o aleive, a inveja, as bocas de peçonha?
Alfredo voltou ao terreiro. Dizia ao tio, à mãe? E logo viu a mãe, tão inocente daquilo, a correr terreiro, quarto, pé do oratório, ao ronco do bombardino, querendo saber de tudo de Areinha naqueles dois anos de ausência de Muaná, o sucedido, o não sucedido, oh mãe curiosa. Fosse ver na dobra do caminho aquelas bocas na sombra. E ela aqui, perguntadeira, quem morreu, quem nasceu, mau passo quem deu, os que foram embora, barraca que se armou ou desarmou, renda ou rede feita, as enfermidades, os casamentos, se atrás da porta, na polícia ou de véu e grinalda; que diabo fazia a Ninita nas Cuieiras, a Ninita de beiço roxo, oh mão santa para render uma clara de ovo, um ovo prum chocolate, um pão de ló, e com aquele sinal, que era até uma gabolice, no pescoço lá dela, tinha 31 também um atrás, se via no banho do igarapé, bem na batata da bunda, disso se fazia tanta caçoada! Era cheia de sinais a picota, mas pretos, e aquele beicinho roxo, um olhar muito de dentro, meio soturno, meio molhado, passado na rezina, de se dizer: que estás olhando, rapariga, eu não sou eu quem te persegue, que foi que deu nesses teus olhos, resinosa? Mas quem me anda escamando a Ninita pelas Cueiras, aquela malhadinha tão boa criatura, batedeira de clara de ovo? A última vez que vi ela foi se despedindo de mim na cabeça da ponte, me dizendo:
Ah, Amélia, eu que te vejo mais? Agora... Agora a gente se encontra no meio das almas. Até esse dia.
— Ora, me dêem noticia da Ninita, pessoal. Sem ela, clara de ovo, cadê que espuma?
E não deu tempo de perguntar mais por Ninita, porque outra ali se sumia nos seus abraços. Meu Deus, e esta? A filha da Benvinda? Mas ontem-ontem no cueiro e 1á mãe de filha? Se a criança está pagoa me ofereço de madrinha, ao menos de carregar, me chama logo de comadre: sal na boca da barrigudinha. E aqui tu, espera, mas é a Diva, com quem tu te amarraste, sua afoita? E esta-uma, que foi isso no bucho que tufou, misericórdia, não se faz mais nada nesta Areinha senão filho? Feição fina tem essa tua sobrinha, benza-te Deus, mas não te gaba, olha, te falta um colchete aí atrás, nas costas, suada então que está, te enxuga, vai, vai no quarto, te prega, mea filha. te fecha, olha os maus olhados. que gente de flecha no arco é que não falta. E da Ana de Nantes, vocês não me fazem uma idéia? Doidona, aquela. Ela ainda faz renda e toda a quantidade dela de bilros que fim deu? Qual saia neste Muaná que ela não enfeitou de renda? Se botou pras Ilhas? Que fazer, meu Deus? Atrás de quem? Mas de quem? Qual! O rapaz perdeu a perna? Torou a perna? Jacaré? Mas, coitado, tocó? Ana de Nantes, a próxima, aquele dela, o primeiro, deu naquilo, já curtiu a pena, ele, os três anos? Seu Alberto que tanto fez pros jurados deixarem por menos... Agora com o tocó a padecente. Mas... quem estou vendo, quem, eu tinha mesmo de fazer esta viagem, eu tinha que me abalar de Cachoeira, me incomodar, sair de minha janela, para 32 encontrar... E eu te fazia em Belém, ou nos sete palmos, criatura, fervendo no tacho que te aguarda, pecadora, sua ressuscitada, essa cara de mucura xixica, Dorotéia, e a tua gordura, cada costela um toucinho e cheirando a pega-não-me-larga, ah, Dorotéia, mana! Os anos! Essa tua cara... Me explica tu não me escrever, uma vírgula que fosse. É certo que ler, escrever, por ti passa de largo. Mas um toco de lápis, um papel de embrulho, por casualidade, tu não tinhas, que dissesse: bom, me deixa mandar aqui uns riscos, estes meus garranchos para aquela triste lá de Cachoeira, vou lhe dar a honraria de um meu borrão no papel, que ela não se gabe... Ao menos pelo Leônidas, aquele chega-e-vira, por um cristão remeiro, um tripulante, numa ocasião me mandasse um recado, uma lembrança, uma... digam lá pra Amélia que inda estou viva, mexendo meas panelas, correndo o Umarizal atrás de boi-bumbá, no mastro do Mestre Martinho, serenando os Mapará aquele festãozão. Sempre foi tua sina, serenar festa alheia, serenas tudo. Dorotéia, morte alheia, casamento, batizado, quarto de doente mal. Tu, tu, nunca que tu te emenda, sereneira. Tu só presta pra ser jogada dentro do fogo nem no fogo ardes de tão péssima. A tua valência é Deus que me manda te perdoar, anda, me conta as tuas serenações.
— Sua esquecida, te lembra que sou inimiga de escrever. E tu em Belém quando levaste teu filho cadê que me procuraste, tu sabias o meu fogão. E olha, endemoniada, tua cãibra passou?
— Não, infeliz, sempre tenho. Endemoniada é a tua vá que o céu guarde. Tenho sempre as minhas cãibras.
— Também... Aposto que não deixaste de apagar fogo do chio com o pé.
— Ora, ora, Dorotéia, tu que me conhece... Fogo que houver que eu possa pisar eu piso, vê lá. E as tuas tetéias, tu que tinhas um peso delas, que fim já me deste que uma não vejo no teu pescoço lindo, no braço. Anda desvalida mesmo... Que vai que estou aqui pra te fazer uma caridade, conta dos teus serenos, me vieste serenar a surpresa do bom do teu Ezequiel?
— Pois olha que tu não sabe, dei de guardar, mana, vai ser o meu montepio, as tetéias, cala a boca, encofrei.
33 Alfredo se inteirava: essa mãe, até no palavreado, ele ia desconhecendo, uma outra mesmo brotava de Muaná. Se por isto se doía, doeu-lhe fundo lembrar: pois a mãe festejada, no andor e no receber pessoas do seu antigo conhecimento, não falava nem se lembrava um instante de Maninha? Ou naquelas pessoas, na Dorotéia, só via era o filho afogado, o pai deste? Custava contar que teve a Maninha em Belém, na Maternidade, uma febre de repente deu nela, levou? Cadê aquela mãe fedendo a gengibre com a mão de pilão na escuridão, no chalé, num choro escuro, falando com as bruxas de pano de Mariinha? Estava ali, alva de pó de arroz, alva a risada, alvo o olhar, ponteando no terreiro, parece até que nunca teve, não tem, uma filha nos sete palmos do Teso? Voltava a mãe a ser aquela-zinha da Areinha, a mãe do filho afogado, nascida-criada na choupana de miriti e barro amarelo com vum-vum entrando saindo dos buraquinhos da parede? Não, voltar, a outra não podia. Esta da festa era de agora mesmo, uma das mães, das muitas mães que via na mãe, pois fosse aquela, esta, uma outra, as muitas, de todas se sentia sempre filho. E no meio de tudo, ela, apesar de se fazer tão da Areinha ,não dava um ar de quem descia do seu chalé, olhando de sua janela?
Dorotéia... ela perguntava, as costas da mão na boca: mas de toda aquela alagação nem-um nem-um salvou-ser filha de Deus? A Erodides, a Pente Fino, a comadre Cota, a Serafina, esse haver de gente, mãe de Deus? Mas, Dorotéia, agora não, mana, o Ezequiel fez esta surpresa. pra vocês se alegrarem, não, não me conta. Eu que me vi, Santa Bárbara, com o meu filho... E foi um intervalo, caladas, um instante, as duas se mirando e logo a mãe. noutro tom: eu que vi os mares, eu e Alfredo num barco, fazendo água, foi por pouco, que eu te diga.
E a repetir: Dorotéia, Dorotéia, a festa era só para Dorotéia? Nome este que nunca ouviu no chalé, se tinha ouvido não se lembrava, Dorotéia, agora, adoçando a bica da mãe. E para as duas, lá vem o Teotônio, de pé, numa deferência, o rum rum rum do bombardino e entre dois roncos o nome de Dorotéia na boca da mãe, Dorotéia, rum-rum-rum.
34 Quis fugir das vistas da Dorotéia mas esta mais que de repente lhe agarrou pela manga: tu foge, passa fazendo que não me enxerga? Me pede a bença, meu fino, meu rei na barriga. Só por já ter uma educação, já não me enxerga? Pois minha saia ainda pitia do teu mijo. de tua baba, do teu choro, este branquelo, muito do metidinho, esse meu especial. Meu orgulhoso, repara tua pele, saiu clareando, sim, mas não é essa a questão, tu tens mais da tua mãe, da nossa pretura, que dos Coimbras, tu fica tu sabendo. A forma é da tua mãe nova-nova perante a idade do teu pai, aprende esta. Te orgulha dela, que te botou no mundo, ouvi as dores dela de ti, que melhor do que a tua mãe teu pai não é. E vejam, espiam, doeu-se? Doendinho? Que alfenim já é este que tu geraste, minha prima, mas eras! alta de sal na moleira? Desfranze a cara que isso te faz velho cedo, e o rapaz que está salta-não-salta daí de dentro? Eu me arreceio dos teus franzimentos? Onde então foi, Amélia, que me arranjaste essa prenda? Não foge, estás na minha unha, o malcriado. porco espinho, penso que a tua mãe te mandou pra cidade te instruir e não é que vem de lá um catitu? Ou só é instruído pros da cidade, por teu pai, os categorias? Ou a venta franzida é dizendo que devo conhecer meu lugar, o menino tão alto e eu tão no chão, qual, Amélia, esse tal do teu filho... É, bem, é, meu aborrecido? Ora, sim, senhor. Eu que te aprecie.
A mãe, essa então, quanto mais escutava mas ia se rindo do que Dorotéia dizia. E esta puxa Alfredo, sujigando-o num abraço, lhe estalou um beijo, Alfredo, a custo, despencou-se dela, o beijo a tabaco e a uns longes de cumaru. Já Dorotéia se entretia em revistar o vestido da prima, de onde tirou o molde e aí seu cumaru se desprendia mais. Alfredo, a face ardendo, rodou pelo copiar que cheirava a chocolate, a cachimbos, a cascas de defumação, com aquele bombardino duro ao pé do oratório na mesma agonia. Teotônio, tão raquítico, se esvaía no desesperado sopro, nunca se viu bochechas tão aflitas. «... o rapaz está salta-não-salta daí de dentro». Lucíola com a sua sombra ao pé dele, é que não deixa saltar logo? Salta-não-salta. Foi a única que viu, a Dorotéia, 35 viu dentro do menino o rapaz salta-não-salta? Alfredo olhou as calças ainda acima do joelho: isto a causa?
Viu a Dorotéia já pelo fogão, no ajutório, enrolava as mangas: E então? E os comeres e os beberes? Que apito vou tocar nesta cozinha de Vossa Majestade? E apanha a colher de pau feita pelo velho Bibiano, sopra o fogo, destampa panelas, olhando a lata de chocolate lá fora sobre as achas que crepitavam. E provou o porco, fez um ah! de lástima: que dieta é esta, quem padece das urinas, todos aqui? E logo num tom de queixa e ralho ao mesmo tempo, sempre se rindo: sal, meas manas, me tragam o sal. E era uma ordem, que Dorotéia cozinhava nas casas finas de Belém, senhora-dona-cozinheíra Procurem o sal, um grão não tinha? E lá ia uma gitinha depressa atrás de sal na casa da mãe de Antonica, quando Dorotéia saltou na frente:
— Menina, não. À mãe da Antonieta não vai dar o sal jamais. Compra, mandem comprar, taqui o dinheiro me despachem um rapaz na vila. Ó Amélia! Sal de vizinho corta amizade. Apreparem-se, pessoal, que eivém chegando o...
O Alfredo se deu conta no cochicho geral: O Major, eivém o Major. Farol na mão, um afilhado de d. Amélia trazia o Major, guiando-o pela escuridão da Areinha. O Major rodeou o terreiro, varou para os fundos, Dorotéia lhe apanhando o chapéu de palha, a bengalinha. O palitó, não, Major não quis tirar.
— Reunindo o eleitorado?
Perguntou ele, acenando com o queixo para a d. Amélia que mal lhe deu atenção, servindo de chocolate as velhas ali de cócoras, umas pedindo o que fazer na cozinha, outras aninhando os netos no colo, ou ralhavam a festejada pela atenção que lhes dava, fosse antes correr o chocolate era pelo terreiro para as pessoas de fora ,de mais cerimonia, que elas ali eram de casa, da beira do fogão, ou Amélia já desconhecia? E para espanto de Alfredo lá estava a Dorotéia, mais que a dona da casa, armando a rede na sombra dos limoeiros para «quando o branco quisesse um descanso. Tire os sapatos, Major. Ponha-se a gosto. Sempre é um estirão da vila até aqui, descansezinho um 36 tempo.» A Dorotéia desenrolava nos pés do Major os seus tapetes e ao mesmo tempo piscava para o Ezequiel, as velhas, para a d. Amélia, esta de passagem, charão na cabeça, nas suas artes de servir e agradar. Que Dorotéia era essa? A mãe um pé aqui, outro acolá, agradando os convidados, mas carne e osso com a Dorotéia. De onde esta? Como é bem o parentesco? E entre a fazição dos beijus, o porco assado, a batimento de ovo para novo chocolate, o racha a lenha e o emperreio das crianças, a flauta, o violão, o bombardino, o Major tanta figura não fazia. Sim, que tinha a regalia da rede, aquela Dorotéia em volta, o respeito duns, muito apressados, que lhe vinham dar boa noite, tomar a benção logo viravam. Mas não era o mesmo do chalé, da casa das filhas, da porta da igreja, dia de festa, fim da missa, começo de leilão no meio das autoridades. Agora tão pouco Major e muito menos Secretário. Majestade ali era a d. Amélia, era a mãe, sabia Alfredo. Q Major, de palitó, no embalo da rede, ia ficando esquecido debaixo dos limoeiros. Sim que seu Bibiano, saindo não se sabia donde, veio, meteu a sua palavrinha, chegou, virou, sem antes dizer a posição das Três Marias, o setestrelo e a que horas a maré. Ademais tinha que vigiar os cajueiros com o risco dos curumins andarem tirando os cajus verdinhos. Do lado do Major. só a Dorotéia não se arredou. Trazia-lhe o café na bandeja, esta um menino trouxe, mandado buscar correndo, da casa da Maria Miúda. Na palma da mão lhe deu os beijus, de tapioca, feito no instante, enrolados na folha da bananeira. O Major gracejou sobre o bombardino. Dorotéia fez que se queixava:
— Mas ah possível, Major, nem pro senhor fazer um fogo de vista pra queimar nesta surpresa? Se eu tal adivinhasse eu bem que eu tinha trazido de Belém umas pistolas. Sim, que as suas, Major, que muitas mais bonitas são. ninguém põe dúvida. E um estrato no lenço, Major, no peito da camisa. Amélia lhe deu? Tome do meu. Não? Olhe que é uma desfeita, Major, Major...
— Dorotéia, não. Não sabe que o homem deve feder, a mulher cheirar?
Dorotéia, tapando o riso, saiu chamando: ó cheirosa, ó cheirosa, vem ouvir, vem, aqui o teu, ó cheirosa!
37 Alfredo até o sarapatel rejeitou, nem chocolate, beliscou um beiju, e teve a sua surpresa: na cabeça a mão da mãe que lhe dizia: se está com sono, ato a sua rede lá fora, está?
Ele acenou que não e fugiu. Bem, de fala e andar, a mãe estava. Boa-boa da cabeça. Não bebeu, não bebia. Por este lado, ele até que sossegava. E aproximou-se da Antonica num passinho medroso. Esta, mesmo, a fração sabia? Mas a menina, mal olhou, já lá se foi lhe fazendo beiço, se virou, correu para o pé dum, de quinze anos, arruivado, voz de frango, o bombardino na mão, enquanto o Teotônio soprava na xicra sem asa o chocolate fumegante. E logo que bebeu, Teotônio tirou o bombardino do rapaz, soprou, escorreu o bocal, deu sinal aos camaradas da música. Era a última, admitindo o bis. Tinha de aproveitar o restinho da madrugada para lancear no rio o camarão de cada dia.
O terreiro vazou, vazou a barraca, ardiam as lenhas. E no silêncio, a mãe e Dorotéia, no batente da porta, conversavam; que há dois anos não se falavam, não sabiam de suas novidades. Alfredo, disfarçando, sem um sono, veio não quer querendo, escutar». Menino, dormir que estamos aqui conferenciando. Nos nossos segredos. Quer definição de tudo?»
Que Dorotéia, aquela, de que enxofre saía? Menino! Ele? Subiu o cajueiro, se reinasse cair dali? O avo lhe pondo a cana de miriti no braço quebrado? Baixo, baixo, os seus assuntos as duas conversavam. Como se tudo fosse contra ele, ele só; a conversação semelhava um ressono longe do rio nas pedras, antiga noite no Araquiçaua, goiabal um sossego, os bodes fedendo grosso e quente debaixo da casa. Desceu do cajueiro, rodou, veio renteando a parede de ouvido fino na conversa. Que é que as duas se segredavam? As duas, parecendo adivinhar, calaram-se. E esse calar foi uma voz naquele silêncio, à súbita solidão de festa acabada.
Entrou na cozinha, voltou, o avô dormia na esteira, o setestrelo em cima do peito. Com o silêncio, tanto, o Major acordou.
Aqui fora, o Ezequiel tirava uma linha dos divertimentos do arraial, esconjurava. ria daqueles diabos no ar puxados pelo motor de lenha e com desmiolados dentro voando, aquilo zunia, raspava as ventas no balanceio, risco de cuspir os voantes em cima da sumaumeira da calçada. E as bancas de bebida no tal de um despropósito, a espuma das cervejas e as misturadas nas roupas e na cara dos que só iam no Círio para um carnaval? E o letreiro, cada pintura das revistas de teatro: delas ouvia o que dizia este e aquele canoeiro que ia ali espiar: lá no palco aquela-uma, olhem a coxa, o rabo feito roleta rodando na vista das famílias, e o salgado das representações, chova indecência das bocas no palco. Tudo não era do diabo, desta nossa humanidade nua e crua? Fizessem isso noutro lugar, que eu santo não sou, arrisco o meu rabo de olho quando posso mas no lugar devido, aqui no arraial não aprovo, defronte da Basílica, devia ser sério. Fugia para a bordo. do «Deus contigo», Nossa Senhora que fizesse a maré já dar, levantar pano, me embora.
Naquele ano, seja por influência do Major, graça da Padroeira ou reconhecimento do Intendente, Ezequiel. que não sabia ler, ouviu, com um edital, em papel colado na porta da Intendência, lerem a sua nomeação para 22 adminis|trador do cemitério semprezinho um ganho por mês. Foi quando chegou a irmã de Cachoeira.
Tão de surpresa chegou, naquela segunda feira, que Ezequiel não esperou nem o sábado, para fazer a sua surpresa também: na quinta, dez da noite o mais tardar, tinha reunido, na boca do caminho que dobra para o terreiro, quase a Areinha em peso. Dedo no lábio, ordenando silêncio, tudo preparou e «vamos meu pessoal» comandou baixo, agora a mão na boca para não rir alto, logo fazendo ciiiu «baixa o assanhamento, gente»... ao burburinho dos que principiavam a caminhar. E foi aquele lá maior do violão, o primeiro foguete, a flauta, as girândolas, o terreiro cheio, até o bombardino amassado e encardido do Teotônio, e entra chocolate pelos fundos, pendura luz no coqueirinho, nos cajueiros, depressa o xarão de doce, água borrifa o chão da sala e o terreiro para sentar a poeira e d. Amélia pulando da rede com o filho do outro lado, corre, destampa o baú, apanha a pluma, desata rede, num tempo empoa-se, e já as moças no quarto — enfia o vestido tão amassado da viagem — ah Ezequiel esse teu juízo... que-que te assanhou? — anda, Alfredo, os sapatos, Mãe de Deus! E Ezequiel dando as ordens, verdadeiro mordomo de arraial, exibe na porta o carbureto emprestado ao seu Aguiar, acende as velas no oratório: «primeiro rezar, herejes, depois a pavulage» e logo se desculpando: festa não era, a significância estava na boa intenção, a satisfação de quem via a irmã, dois anos sem ver, era demais? E se rezou a ladainha, enquanto ás pressas um capado sangrou no terreiro vizinho, esfola, talha e trás para o preparo nas mãos das mulheres. Alfredo boquiaberto. Esta não esperava. E com aquele bombardino de ronco duro e o bando das moças esvoaçando no terreiro e em casa, sim senhor a mãe festejada! Bem empoada, pente alto na cabeça, a mãe, da ponta do terreiro à ponta do igarapé que passava a uns vinte metros atrás, não dava para quem queria, tantos e tantas a abraçá-la, e conversar, puxar pra dança. Alfredo via a mãe no xótix, na valsata com o irmão no terreiro, polqueiando com uma desconhecida e nem um hálito daquilo que a mãe tinha no chalé, nas feias noites de Cachoeira. De admirar, muito de admirar. As pessoas salvavam a mãe e cochichavam, Alfredo ouvindo: essa 23 rapa|riga é tal qual uma senhora, de seu bom nome, seu fino modo, sabendo bem tratar, tirando das mãos do irmão o governo da festa. Ezequiel, no seu vaivém entre os convidados e aparecidos, acomodava este, àquele dizia: «festa, mea gente, não era, nem arremedo, quem ele pra dar festa? Mas Alfredo estudava o tio: aquele ar do tio? Conversa! Debaixo da sua desculpa não ia um convencimento, uma certeza de ser mesmo uma festa? Queria era um não apoiado? Dava um doce se o tio não se desculpava por simples pávulo. por simples prosa. Que os santos te conheçam, tio fingido. Sim, que dizer, por uma comparação, que era um baile, baile-baile, não. Também isguete ou pagode, forró, quebra peito, arrasta-pé desses aí, não se chamava. Mais apropriado dizer: surpresa, pela chegada da irmã. E Alfredo assim, só olhando, só escutando, se deixava encrespar. Bem que queria parecer ali menino da cidade, chegadinho do seu estudo e não se sentia nem olhado nem reparado? Todos com o sentido na mãe? Os demais meninos, ali de pé no chão, abelhudos, com seus umbigos, farejavam os cheiros do capado no fogo, lambiam os papéis de doce atirados fora, a mão maneira no xarão que nem piaçoca pegando o peixe, ou entretidos com o bombardino. Nem eles me notam. E o bombardino, na boca, no beiço do Teotônio, fazia estremecer a barraca. Dedinho espetado, Alfredo desejava dizer: olhem, seus da Areinha, estou, aqui. hein? Estudo na cidade, na Estrada de Nazaré morei, vi dançarem ao som do piano, corri nos cavalinhos, quero contar do Bosque, já um de vocês na vida viu um navio inglês chegando de Lisboa, a pau e corda da sala de espera do cinema Olímpia com aquele professor, no violino, a cabeleira alva-alva de chegar parecer postiça e o rosto antigo-antigo?
Que nada! As homenagens? Só para a mãe. O bombardino botava Belém da barraca, os beiços do Teotônio babavam no bocal, a flauta lá em cima despetalava a valsinha. Andreza e Semíramis me pisaram; agora, esta noite; e só a mãe nas alturas? A mãe tinha assim tantos conhecimentos? Por que não contava deles no chalé? A mãe pouco ligava? Ligava, sim, agora não estava ligando? Vissem a satisfação dela, no olhar, no sorriso, na fala, dançando, ao fogão, no cumprimentar e receber, ao entrar no 24 quarto e empoar-se, ligeiro a pluma no rosto ao tempo em que tira a toalha do baú, estende na mesa, pergunta: hein, Ezequiel, seu doido, tu também não peitaste o Major de muitas artes? Ele não soube desta tua maçonaria?
No igarapé, vazando, moças iam, delas o único quarto se encheu, a pluma não dava, o pó voou; a dona da casa tinha um natural em servir, em empoar, em borrifar as suas semelhantes com estrato, o frasco de mão em mão, aqui tratavam ela por tu senhora dona você, ali mea flor tia prima mana madrinha adiante sobrinha afilhada colega mea pavulage esquecida dos pobres e sempre lembrada a desnaturada agora é só na Cachoeira comendo piranha, sua papa piranha!
Dessas liberdades, Alfredo pasmo. No chalé, fosse senhora de cima, fosse qualquer pobre de baixo, era sempre: boa noite, d. Amélia. E aqui as maiores intimidades? Vinha também o parentesco de São João — aqueles tempos de passar fogueira — agora a mãe pedia a bença dias madrinhas, abençoava uns curumins umbigudos, seus afilhados, chamada de meu cravo meu alecrim minha açucena, quem não fosse do sangue, da família dela, era por obra de São João, de São Pedro, tudo na mesma irmandade. Alfredo mirava a mãe: esta é a mesma do Cachoeira? Também, como o pai, se separava do chalé? Não era aquela, a bordo do «São Pedro» em noite de tantos mares, arreando-se a trovoada, os raios, no mastro e a mãe, guardando o filho, na boca do toldo. Aquele instante dela na luz dos raios agora lhe subia do coração. Agoniado, se chegava mais ao pé da mãe para lhe sentir o hálito. Não. De cheiro só o pó. Nem mesmo de tabaco. Mas um dos seus afilhados, a uma ordem dela, por um tostão, mais que depressa não podia ir na vila bater nas tabernas? A mãe festejada! Aqui, fosse viva, nhá Lucíola, contra o festejo, estaria ao pé dele, no mimo de sempre. Nhá Lucíola, sempre a sua sombra, a invisível mão a tocá-lo, a dizer-lhe numa voz ausente: não te quero crescido. Eu, agora, sou tua mãe, és meu filho, ninguém mais me impede. Meu pequeno polegar. Meu pequeno polegar. E foi um sobressalto ao ver a gordalhona, preta de cabelo pintando, no terreiro, a balancear as cadeiras, a larga saia de gorgurão, um paneirinho pendurado no dedo, 25 a abrir os carnudos braços para a mãe: Mas me toma a bença, pavulage, ou tu já deixaste de ser mea sobrinha? Bicha! Essa! Toma, te trouxe isto agora, o que eu tinha. te trouxe esta mangaba mas tu, cadê, cadê que tu merece? Até que eu nem devia... me mata, arrependimento — te ter trazido isto... Enfim, toma!
Alfredo correu atrás da velha que esta, mal entregou o paneirinho, das mangabas, já se enfiava para os fundos. debruçando-se no parapeitinho do copiar, junto dos potes d’água e das pessoas ali, de espia no xarão contra os moleques. Pessoas de passagem num pasmo: uai, pois a velha Eufrosina, esta que tanto caçoa da lágrima alheia, enxugando as dela? Amélia faz milagres.
Alfredo um passarinho aqui e ali, seus dois olhos não chegavam, outros, de sua imaginação, seu despeito, seu nascente orgulinho pela mãe, se abriam sobre o terreiro coberto de pretaria e gente alvaçoa. E foi, que ouvindo, abaixado, invisível, catando pedaços da miúda falância no terreiro, ao pé dos cajueiros, entre os mais conhecidos e parentes mais distantes da mãe, deu com esta conversa entre duas mulheres, a que amamentava o filho e a que fazia um pitó e daquelas palavras baixas tirava a limpo estas: ... as coisas! Estava ali a Amélia, quem visse a Amélia, soubessem quem foi a Amélia, aquela pretinhazinha assando camarão no espeto, joelho ralado de subir todo dia no açaizeiro, a perna cinzenta no Freixal tirando sernambi, depois nas Ilhas, lá nas Ilhas, meio errante, uma ninguém de olhar brabo na beirada, num saiote, o pé na lama... E na sua volta das Ilhas, no igarapé lavando roupa alheia? Vissem a próxima se fingindo de tão sossegada, já barrigudinha do primeiro — aquele que morreu afogado — o pai ninguém sabia, que ela jamais confessou. Pois naquele estado fingindo o mesmo sossego, não ensaboava as anáguas da Almerinda? A justamente Almerinda, Amélia sabia, a cuja que ia casar com o dito autor daquele inocentinho dela ali se gerando na coitada, a coitada lavando a roupa da outra... A própria Almerinda nem sabia. Nem mesmo Amélia fiançou perante o rapaz que fosse ele o autor, o pai. Nem as ripadas do irmão mais velho. Ninguém tirou dela um isto. Grudou o segredo dentro, fechou-se que fechou-se. Aquela? Da 26 feita que diz não, cadeado na boca, não verga, não tem fogo que derreta o ferro. Mas as línguas então! Que não disseram... Uns maldavam: Amélia não dizia, por não saber quem era mesmo exato o autor? Ela sabia, sim, sabia, pouco lhe doeu falarem assim, trancou-se, que em tudo aquilo com o pai da criança havia teia e só ela, a aranha, podia saber como fiou. Hoje...
Alfredo, o ouvido a arder, mordeu a folha verde, o beiço, foge daquelas bocas, vai, vem, sobe num galho baixo de cajueiro, desce, verte água ao pé do tucumãzeiro que lhe oferecia os espinhos, correu para onde estava mais escuro, falavam da mãe dele! Ali mesmo no terreiro do avô. Então, apanhando do irmão, sem dizer quem foi? Igual Irene? Pareciam-se? Da mãe dele, sim, verdade, falavam!
Ao pé dos matos que beiravam a estrada da Areinha para o terreiro do avô, teve de repente um alívio entre aqueles silêncios e rezinas. Do terreiro um rumor confuso, logo a flauta e o bombardino. Reinou sumir-se, a mãe dando por falta, suspende a festa, procurem o perdido, Santo Antônio invocado, as vozes no folharal: caiu no igarapé? Na mão da mãe do igarapé? Caiu naquele poço destapado da tia Ana ali no escuro? Cobra mordeu? Artes do tamanduá bandeira? Voltavam das irmãs: Lá que não está. E ele escondido, ou achado com muita febre debaixo do jirau da casa do seu Caraciolo onde os tajás chamavam as almas.
Se fosse embora para a casa das irmãs? Das filhas do pai não era irmão? O bombardino repetia tudo que ele tinha escutado daquelas bocas, o rum rum rum, agoniado, aquele pigarro, do bombardino, repetia, sim, bombardino de bastante idade, tocava o que ouvia falar. Então a mãe naquela noite, no chalé, do pé do fogão, coberta de cinza e lágrima, chorava também o filho que se afogou, não só Maninha? Chorava o que não chorou diante do irmão quando quis este lhe arrancar o nome?
O cochicho lhe roía o ouvido, que mais babavam aquelas bocas do diabo? Podia figurar a mãe antes de ser a mãe dele? Vê-la ensaboando as anáguas da outra, de quem lhe tomou o pai do seu filho, este ainda na barriga, 27 e todos os olhares e todas as perguntas, cortada em miúdo na Areinha? E essa Almerinda, que-que tinha de melhor, para merecer casar e a mãe, não? Não era preta, era filho família? Aonde anda essa Almerinda? Mas se Almerinda não casasse com aquele sem nome (é, o nome? quem?), e este fosse no igarapé tirar a mãe da lavagem e no juiz levasse ela; ou ver a mãe ao menos esposarana dele? Era eu que não nascia, filho que agora sou do meu pai Alberto. Bom ou não o que aconteceu à mamãe? Eu nascia? Era a minha mãe?
Desatar os tantos nós de tal pergunta Alfredo não sabia. Sim, que lhe deu um como um palpite, informe, de que a mãe se guardou naquele cadeado, sem dizer quem foi, porque uma sorte a levava para o chalé... Mas se o primeiro filho não tivesse se afogado? O chalé agasalhava? Não? Coisas deste mundo, dessas mães, das pessoas mais velhas, tão custoso esmiuçar! Aqui a mãe não era a que passeava em Belém, a que ia até no Teatro da Paz pelo braço do Major nem mesmo a de antes do Major, a de antes do filho afogado, a Amélia solteira, no trinque, de que falava a Mãe Ciana, tirando aquela fotografia ao lado das primas, no pescoço três voltas de colar. Esta mãe das bocas do terreiro não era nem de longe aquelas de Belém. Mas não bastando estas, outra mãe desconhecida não lhe aparecia no festejo do tio, no andor carregada? Era a mãe todas essas criaturas? Todos esses avessos cabiam nela?
— Mas aí, na beira do mato, feito um tatu?
Assustou-se. A mãe lhe trazia pela mão a menina, sobrancelhuda, cara papuda, cocó.
— Aqui a Antonica, meu filho, quer te conhecer. É a filha da Maria Miúda. Receba suas visitas, seu tio bimba, sempre o tio bimba? Quem vê ele assim é capaz de jurar que nunca botou pé na cidade.
Juntou a mão da Antonica na dele que logo retirou os dedos desconfiados, o olhar miudinho em cima da papudinha, daquele cocó. Que cabelão tem esta, já... Esquivo, se lembrou da barbearia da cidade onde rapou a cabeça, por engano, a pura matutice, «Escovinha» ordenou ao barbeiro, certo o pávulo de que ia cortar na moda. Ah 28 tio bimba, e tio bimba, volta a mãe a lhe dizer. E ali na barra do mato, um tatu diante da zinha de cocó, esta por dentro, por certo, bem nas suas caçoagens contra ele, essa papuda.. Que tinha a mãe de falar? Fosse a mãe contar alto no terreiro como num leilão que ele mandou pelar a cabeça, enganado. Todas essas vergonhas ele trazia consigo sim, e era como se Andreza já soubesse, fosse isso a causa dela ausentar-se do chalé. Mas vamos que pule agora na frente da mãe, mande parar a música, botasse alto a mãe em confissão: quem o pai do primeiro filho, que fim levou essa Almerinda? A mãe chorou, chorava pelo filho afogado? Quem sabe não estava ali, no terreiro, o pai misterioso? Certo de que o irmão mais velho, o tio Antônio, o piloto lhe ripou as costas, mamãe? Mamãe. Mamãe! Assim gritava em Cachoeira, batendo o pé no soalho, abrindo em choro, ao vê-la na dispensa, entrando e saindo, mamãe, mamãe! E assim ela, variando, fazia de conta que tirava do fundo aquele filho, o seu primeiro. vivo-vivo? Por ter sofrido, apanhado, traída, apontada na Areinha, fez daquele o seu filho único, a sua paixão, depois dele nem um mais? Acalentava elezinho dentro da garrafa, atrás do armário? Bebendo, via ele crescido, criado pelos peixes, caboclinho dos muitos dentro d’água sete anos encantado?
— Estudou muito? Fração, conhece? Viu lá em Belém, o Gentil, o colégio? As moças de uniforme? A Escola Normal?
A menina perguntava, muito desembaraçada.
— Sim, que era, era de mea escolha a Escola Normal, são cinco anos. Mas ah, aqui na Areinha, mamãe pode? Eu uma professora mas quando... Ah meu balão. Vento não me assopre. Eu quem sou eu.
Se essa menina, sem desarredar da Areinha, soubesse mais fração que ele? De ouvido mais fino ao que lhe dizia a gordinha de tão engraçado cocó, abrandou-se. Os dois chegaram para o pé do oratório. A menina apanhou uma folha de catinga de mulata, cheirou fundo, como se aspirasse a Escola Normal, a cidade, Alfredo baixou os olhos meio um culpado. Fingiu interessar-se pelo tão magro, tão cheio de fôlego tocador de bombardino, o 29 Teo|tônio, ai que se esvaziava todo no bocal do bombardino soprando a sua entranha, o baço inchado, suas lombrigas. O pé direito num tamanco, com ezipla, o esquerdo numa botina laranja sem cordão, botina? Chuteira, uma bicanga velha. Com a luz no bombardinista, o rosto era ver o metal do bombardino.
A menina lhe pediu que atasse no cocó a fitinha cor de rosa. Alfredo desajeitou-se, a fita fugiu-lhe dos dedos, o cheirinho a andiroba da papuda lembrava-lhe Andreza. a Libânia de Belém azeitando a cabeça no espelho da madrinha-mãe. Estava mal a mal dando o laço e deu com as moças, estas de camarote: Mas d. Amélia, depressa! É cafuné? Ah, madrinha Amélia, se chegue, chegue-chegue aqui num relâmpago, se admire...
Fugiu, a fita no chão, Antonica a gritar que não pisassem na fita. E agora pelo terreiro, a fugir de sua vergonha, Alfredo teve a sua atenção noutra conversa ao pé do monte de talas do seu avô: ... mas oh criatura, esta Amélia, não tinha brancume, nas alturas que ficasse, no braço do Major, descansando na Maternidade, de janela no chalé de Cachoeira, com o filho do Major se educando: nunca se viu e ouviu que Amélia torceu beiço a um, franziu nariz a outro, virou de banda para desconhecer um conhecido, metesse temperinhos, pavoa nos modos e no falar, preta, sim, de seus veludos, suas sedas, com pluma e extrato, tendo o que contar de teatro, cinema, arraial de Nazaré lá da cidade e sem um empavulamento que se dissesse, de comer manteiga sem se lambuzar, a preta bem gerada. Onde estivesse era ela sempre, tão despida, e aquele filho, na cidade, podia voltar, um dia, de diploma, um doutor, e com pouco um juiz, meter um qualquer branco no chinelo não podia, um dia? Até onde ia o filho dela, e quem era? De quem a filiação? Um puro neto do meu. do teu, do nosso pareceiro, o velho Bibiano, o sobrinho de quem? Dessa figura, o Ezequiel, rezador de orelha, que não soletrava uma data corrida. Assim era. Assim era. As filhas do Major, ninguém tirava esse direito delas, podiam dizer: essa, nossa madrasta nunca é, nunca será, mas que tem, lá, o chalé limpo, ninguém desmente, também nem é bom gabar, quem hoje anda asseada pode amanhã não tomar banho. E Alfredo se indagando: nem as irmãs 30 sabem do que se passa no chalé? E nesta indagação se distanciou do terreiro, acaso correu até a dobra do caminho para a estrada geral da Areinha e viu, na bainha do mato, sentadas na raiz, umas pessoas, mulheres, que nem sapos no oco dos paus, que riam, e de lá do terreiro chegava uma na carreira e gania o que lá abelhudou e assim Alfredo, sem ser visto, espião, logo pegou que ali só estava quem desfazia da mãe, da surpresa do tio, por inteiro debicavam do tio caçoavam, tinham as caras na sombra, apelidavam, riam, riam; de vez em quando uma saia para o terreiro, voltava com um doce, uma costela de porco, a de agora quis dar um pedaço a outra e esta: axi, porcaria! e cuspia. Cuspia. Todos cuspiam não só da festa, também do tabaco que mascavam, por simples e maldoso cuspir. Rezavam para que a festa acabasse em pau e tiro? Alfredo recuou, os risos chocalhavam, lá vai uma das cobras pro terreiro, aqui esta debochou na gargalhada, um tinha o braço enfiado numa gorda de cachimbo, o cachorro. no colo de uma alta, varuda, ladrava. Ali na sombra, na raiz, nos paus de sapo, cobra e caranguejeira, agourentas, num sereno longe; sim que serenavam por meio de estafetas, estes indo e vindo, cuspindo as notícias do terreiro. Espalhavam terra de cemitério no caminho do avo? Não saiu dali o mal que entranhou na mãe, que enche aquelas garrafas, o mal, a praga, ali o aleive, a inveja, as bocas de peçonha?
Alfredo voltou ao terreiro. Dizia ao tio, à mãe? E logo viu a mãe, tão inocente daquilo, a correr terreiro, quarto, pé do oratório, ao ronco do bombardino, querendo saber de tudo de Areinha naqueles dois anos de ausência de Muaná, o sucedido, o não sucedido, oh mãe curiosa. Fosse ver na dobra do caminho aquelas bocas na sombra. E ela aqui, perguntadeira, quem morreu, quem nasceu, mau passo quem deu, os que foram embora, barraca que se armou ou desarmou, renda ou rede feita, as enfermidades, os casamentos, se atrás da porta, na polícia ou de véu e grinalda; que diabo fazia a Ninita nas Cuieiras, a Ninita de beiço roxo, oh mão santa para render uma clara de ovo, um ovo prum chocolate, um pão de ló, e com aquele sinal, que era até uma gabolice, no pescoço lá dela, tinha 31 também um atrás, se via no banho do igarapé, bem na batata da bunda, disso se fazia tanta caçoada! Era cheia de sinais a picota, mas pretos, e aquele beicinho roxo, um olhar muito de dentro, meio soturno, meio molhado, passado na rezina, de se dizer: que estás olhando, rapariga, eu não sou eu quem te persegue, que foi que deu nesses teus olhos, resinosa? Mas quem me anda escamando a Ninita pelas Cueiras, aquela malhadinha tão boa criatura, batedeira de clara de ovo? A última vez que vi ela foi se despedindo de mim na cabeça da ponte, me dizendo:
Ah, Amélia, eu que te vejo mais? Agora... Agora a gente se encontra no meio das almas. Até esse dia.
— Ora, me dêem noticia da Ninita, pessoal. Sem ela, clara de ovo, cadê que espuma?
E não deu tempo de perguntar mais por Ninita, porque outra ali se sumia nos seus abraços. Meu Deus, e esta? A filha da Benvinda? Mas ontem-ontem no cueiro e 1á mãe de filha? Se a criança está pagoa me ofereço de madrinha, ao menos de carregar, me chama logo de comadre: sal na boca da barrigudinha. E aqui tu, espera, mas é a Diva, com quem tu te amarraste, sua afoita? E esta-uma, que foi isso no bucho que tufou, misericórdia, não se faz mais nada nesta Areinha senão filho? Feição fina tem essa tua sobrinha, benza-te Deus, mas não te gaba, olha, te falta um colchete aí atrás, nas costas, suada então que está, te enxuga, vai, vai no quarto, te prega, mea filha. te fecha, olha os maus olhados. que gente de flecha no arco é que não falta. E da Ana de Nantes, vocês não me fazem uma idéia? Doidona, aquela. Ela ainda faz renda e toda a quantidade dela de bilros que fim deu? Qual saia neste Muaná que ela não enfeitou de renda? Se botou pras Ilhas? Que fazer, meu Deus? Atrás de quem? Mas de quem? Qual! O rapaz perdeu a perna? Torou a perna? Jacaré? Mas, coitado, tocó? Ana de Nantes, a próxima, aquele dela, o primeiro, deu naquilo, já curtiu a pena, ele, os três anos? Seu Alberto que tanto fez pros jurados deixarem por menos... Agora com o tocó a padecente. Mas... quem estou vendo, quem, eu tinha mesmo de fazer esta viagem, eu tinha que me abalar de Cachoeira, me incomodar, sair de minha janela, para 32 encontrar... E eu te fazia em Belém, ou nos sete palmos, criatura, fervendo no tacho que te aguarda, pecadora, sua ressuscitada, essa cara de mucura xixica, Dorotéia, e a tua gordura, cada costela um toucinho e cheirando a pega-não-me-larga, ah, Dorotéia, mana! Os anos! Essa tua cara... Me explica tu não me escrever, uma vírgula que fosse. É certo que ler, escrever, por ti passa de largo. Mas um toco de lápis, um papel de embrulho, por casualidade, tu não tinhas, que dissesse: bom, me deixa mandar aqui uns riscos, estes meus garranchos para aquela triste lá de Cachoeira, vou lhe dar a honraria de um meu borrão no papel, que ela não se gabe... Ao menos pelo Leônidas, aquele chega-e-vira, por um cristão remeiro, um tripulante, numa ocasião me mandasse um recado, uma lembrança, uma... digam lá pra Amélia que inda estou viva, mexendo meas panelas, correndo o Umarizal atrás de boi-bumbá, no mastro do Mestre Martinho, serenando os Mapará aquele festãozão. Sempre foi tua sina, serenar festa alheia, serenas tudo. Dorotéia, morte alheia, casamento, batizado, quarto de doente mal. Tu, tu, nunca que tu te emenda, sereneira. Tu só presta pra ser jogada dentro do fogo nem no fogo ardes de tão péssima. A tua valência é Deus que me manda te perdoar, anda, me conta as tuas serenações.
— Sua esquecida, te lembra que sou inimiga de escrever. E tu em Belém quando levaste teu filho cadê que me procuraste, tu sabias o meu fogão. E olha, endemoniada, tua cãibra passou?
— Não, infeliz, sempre tenho. Endemoniada é a tua vá que o céu guarde. Tenho sempre as minhas cãibras.
— Também... Aposto que não deixaste de apagar fogo do chio com o pé.
— Ora, ora, Dorotéia, tu que me conhece... Fogo que houver que eu possa pisar eu piso, vê lá. E as tuas tetéias, tu que tinhas um peso delas, que fim já me deste que uma não vejo no teu pescoço lindo, no braço. Anda desvalida mesmo... Que vai que estou aqui pra te fazer uma caridade, conta dos teus serenos, me vieste serenar a surpresa do bom do teu Ezequiel?
— Pois olha que tu não sabe, dei de guardar, mana, vai ser o meu montepio, as tetéias, cala a boca, encofrei.
33 Alfredo se inteirava: essa mãe, até no palavreado, ele ia desconhecendo, uma outra mesmo brotava de Muaná. Se por isto se doía, doeu-lhe fundo lembrar: pois a mãe festejada, no andor e no receber pessoas do seu antigo conhecimento, não falava nem se lembrava um instante de Maninha? Ou naquelas pessoas, na Dorotéia, só via era o filho afogado, o pai deste? Custava contar que teve a Maninha em Belém, na Maternidade, uma febre de repente deu nela, levou? Cadê aquela mãe fedendo a gengibre com a mão de pilão na escuridão, no chalé, num choro escuro, falando com as bruxas de pano de Mariinha? Estava ali, alva de pó de arroz, alva a risada, alvo o olhar, ponteando no terreiro, parece até que nunca teve, não tem, uma filha nos sete palmos do Teso? Voltava a mãe a ser aquela-zinha da Areinha, a mãe do filho afogado, nascida-criada na choupana de miriti e barro amarelo com vum-vum entrando saindo dos buraquinhos da parede? Não, voltar, a outra não podia. Esta da festa era de agora mesmo, uma das mães, das muitas mães que via na mãe, pois fosse aquela, esta, uma outra, as muitas, de todas se sentia sempre filho. E no meio de tudo, ela, apesar de se fazer tão da Areinha ,não dava um ar de quem descia do seu chalé, olhando de sua janela?
Dorotéia... ela perguntava, as costas da mão na boca: mas de toda aquela alagação nem-um nem-um salvou-ser filha de Deus? A Erodides, a Pente Fino, a comadre Cota, a Serafina, esse haver de gente, mãe de Deus? Mas, Dorotéia, agora não, mana, o Ezequiel fez esta surpresa. pra vocês se alegrarem, não, não me conta. Eu que me vi, Santa Bárbara, com o meu filho... E foi um intervalo, caladas, um instante, as duas se mirando e logo a mãe. noutro tom: eu que vi os mares, eu e Alfredo num barco, fazendo água, foi por pouco, que eu te diga.
E a repetir: Dorotéia, Dorotéia, a festa era só para Dorotéia? Nome este que nunca ouviu no chalé, se tinha ouvido não se lembrava, Dorotéia, agora, adoçando a bica da mãe. E para as duas, lá vem o Teotônio, de pé, numa deferência, o rum rum rum do bombardino e entre dois roncos o nome de Dorotéia na boca da mãe, Dorotéia, rum-rum-rum.
34 Quis fugir das vistas da Dorotéia mas esta mais que de repente lhe agarrou pela manga: tu foge, passa fazendo que não me enxerga? Me pede a bença, meu fino, meu rei na barriga. Só por já ter uma educação, já não me enxerga? Pois minha saia ainda pitia do teu mijo. de tua baba, do teu choro, este branquelo, muito do metidinho, esse meu especial. Meu orgulhoso, repara tua pele, saiu clareando, sim, mas não é essa a questão, tu tens mais da tua mãe, da nossa pretura, que dos Coimbras, tu fica tu sabendo. A forma é da tua mãe nova-nova perante a idade do teu pai, aprende esta. Te orgulha dela, que te botou no mundo, ouvi as dores dela de ti, que melhor do que a tua mãe teu pai não é. E vejam, espiam, doeu-se? Doendinho? Que alfenim já é este que tu geraste, minha prima, mas eras! alta de sal na moleira? Desfranze a cara que isso te faz velho cedo, e o rapaz que está salta-não-salta daí de dentro? Eu me arreceio dos teus franzimentos? Onde então foi, Amélia, que me arranjaste essa prenda? Não foge, estás na minha unha, o malcriado. porco espinho, penso que a tua mãe te mandou pra cidade te instruir e não é que vem de lá um catitu? Ou só é instruído pros da cidade, por teu pai, os categorias? Ou a venta franzida é dizendo que devo conhecer meu lugar, o menino tão alto e eu tão no chão, qual, Amélia, esse tal do teu filho... É, bem, é, meu aborrecido? Ora, sim, senhor. Eu que te aprecie.
A mãe, essa então, quanto mais escutava mas ia se rindo do que Dorotéia dizia. E esta puxa Alfredo, sujigando-o num abraço, lhe estalou um beijo, Alfredo, a custo, despencou-se dela, o beijo a tabaco e a uns longes de cumaru. Já Dorotéia se entretia em revistar o vestido da prima, de onde tirou o molde e aí seu cumaru se desprendia mais. Alfredo, a face ardendo, rodou pelo copiar que cheirava a chocolate, a cachimbos, a cascas de defumação, com aquele bombardino duro ao pé do oratório na mesma agonia. Teotônio, tão raquítico, se esvaía no desesperado sopro, nunca se viu bochechas tão aflitas. «... o rapaz está salta-não-salta daí de dentro». Lucíola com a sua sombra ao pé dele, é que não deixa saltar logo? Salta-não-salta. Foi a única que viu, a Dorotéia, 35 viu dentro do menino o rapaz salta-não-salta? Alfredo olhou as calças ainda acima do joelho: isto a causa?
Viu a Dorotéia já pelo fogão, no ajutório, enrolava as mangas: E então? E os comeres e os beberes? Que apito vou tocar nesta cozinha de Vossa Majestade? E apanha a colher de pau feita pelo velho Bibiano, sopra o fogo, destampa panelas, olhando a lata de chocolate lá fora sobre as achas que crepitavam. E provou o porco, fez um ah! de lástima: que dieta é esta, quem padece das urinas, todos aqui? E logo num tom de queixa e ralho ao mesmo tempo, sempre se rindo: sal, meas manas, me tragam o sal. E era uma ordem, que Dorotéia cozinhava nas casas finas de Belém, senhora-dona-cozinheíra Procurem o sal, um grão não tinha? E lá ia uma gitinha depressa atrás de sal na casa da mãe de Antonica, quando Dorotéia saltou na frente:
— Menina, não. À mãe da Antonieta não vai dar o sal jamais. Compra, mandem comprar, taqui o dinheiro me despachem um rapaz na vila. Ó Amélia! Sal de vizinho corta amizade. Apreparem-se, pessoal, que eivém chegando o...
O Alfredo se deu conta no cochicho geral: O Major, eivém o Major. Farol na mão, um afilhado de d. Amélia trazia o Major, guiando-o pela escuridão da Areinha. O Major rodeou o terreiro, varou para os fundos, Dorotéia lhe apanhando o chapéu de palha, a bengalinha. O palitó, não, Major não quis tirar.
— Reunindo o eleitorado?
Perguntou ele, acenando com o queixo para a d. Amélia que mal lhe deu atenção, servindo de chocolate as velhas ali de cócoras, umas pedindo o que fazer na cozinha, outras aninhando os netos no colo, ou ralhavam a festejada pela atenção que lhes dava, fosse antes correr o chocolate era pelo terreiro para as pessoas de fora ,de mais cerimonia, que elas ali eram de casa, da beira do fogão, ou Amélia já desconhecia? E para espanto de Alfredo lá estava a Dorotéia, mais que a dona da casa, armando a rede na sombra dos limoeiros para «quando o branco quisesse um descanso. Tire os sapatos, Major. Ponha-se a gosto. Sempre é um estirão da vila até aqui, descansezinho um 36 tempo.» A Dorotéia desenrolava nos pés do Major os seus tapetes e ao mesmo tempo piscava para o Ezequiel, as velhas, para a d. Amélia, esta de passagem, charão na cabeça, nas suas artes de servir e agradar. Que Dorotéia era essa? A mãe um pé aqui, outro acolá, agradando os convidados, mas carne e osso com a Dorotéia. De onde esta? Como é bem o parentesco? E entre a fazição dos beijus, o porco assado, a batimento de ovo para novo chocolate, o racha a lenha e o emperreio das crianças, a flauta, o violão, o bombardino, o Major tanta figura não fazia. Sim, que tinha a regalia da rede, aquela Dorotéia em volta, o respeito duns, muito apressados, que lhe vinham dar boa noite, tomar a benção logo viravam. Mas não era o mesmo do chalé, da casa das filhas, da porta da igreja, dia de festa, fim da missa, começo de leilão no meio das autoridades. Agora tão pouco Major e muito menos Secretário. Majestade ali era a d. Amélia, era a mãe, sabia Alfredo. Q Major, de palitó, no embalo da rede, ia ficando esquecido debaixo dos limoeiros. Sim que seu Bibiano, saindo não se sabia donde, veio, meteu a sua palavrinha, chegou, virou, sem antes dizer a posição das Três Marias, o setestrelo e a que horas a maré. Ademais tinha que vigiar os cajueiros com o risco dos curumins andarem tirando os cajus verdinhos. Do lado do Major. só a Dorotéia não se arredou. Trazia-lhe o café na bandeja, esta um menino trouxe, mandado buscar correndo, da casa da Maria Miúda. Na palma da mão lhe deu os beijus, de tapioca, feito no instante, enrolados na folha da bananeira. O Major gracejou sobre o bombardino. Dorotéia fez que se queixava:
— Mas ah possível, Major, nem pro senhor fazer um fogo de vista pra queimar nesta surpresa? Se eu tal adivinhasse eu bem que eu tinha trazido de Belém umas pistolas. Sim, que as suas, Major, que muitas mais bonitas são. ninguém põe dúvida. E um estrato no lenço, Major, no peito da camisa. Amélia lhe deu? Tome do meu. Não? Olhe que é uma desfeita, Major, Major...
— Dorotéia, não. Não sabe que o homem deve feder, a mulher cheirar?
Dorotéia, tapando o riso, saiu chamando: ó cheirosa, ó cheirosa, vem ouvir, vem, aqui o teu, ó cheirosa!
37 Alfredo até o sarapatel rejeitou, nem chocolate, beliscou um beiju, e teve a sua surpresa: na cabeça a mão da mãe que lhe dizia: se está com sono, ato a sua rede lá fora, está?
Ele acenou que não e fugiu. Bem, de fala e andar, a mãe estava. Boa-boa da cabeça. Não bebeu, não bebia. Por este lado, ele até que sossegava. E aproximou-se da Antonica num passinho medroso. Esta, mesmo, a fração sabia? Mas a menina, mal olhou, já lá se foi lhe fazendo beiço, se virou, correu para o pé dum, de quinze anos, arruivado, voz de frango, o bombardino na mão, enquanto o Teotônio soprava na xicra sem asa o chocolate fumegante. E logo que bebeu, Teotônio tirou o bombardino do rapaz, soprou, escorreu o bocal, deu sinal aos camaradas da música. Era a última, admitindo o bis. Tinha de aproveitar o restinho da madrugada para lancear no rio o camarão de cada dia.
O terreiro vazou, vazou a barraca, ardiam as lenhas. E no silêncio, a mãe e Dorotéia, no batente da porta, conversavam; que há dois anos não se falavam, não sabiam de suas novidades. Alfredo, disfarçando, sem um sono, veio não quer querendo, escutar». Menino, dormir que estamos aqui conferenciando. Nos nossos segredos. Quer definição de tudo?»
Que Dorotéia, aquela, de que enxofre saía? Menino! Ele? Subiu o cajueiro, se reinasse cair dali? O avo lhe pondo a cana de miriti no braço quebrado? Baixo, baixo, os seus assuntos as duas conversavam. Como se tudo fosse contra ele, ele só; a conversação semelhava um ressono longe do rio nas pedras, antiga noite no Araquiçaua, goiabal um sossego, os bodes fedendo grosso e quente debaixo da casa. Desceu do cajueiro, rodou, veio renteando a parede de ouvido fino na conversa. Que é que as duas se segredavam? As duas, parecendo adivinhar, calaram-se. E esse calar foi uma voz naquele silêncio, à súbita solidão de festa acabada.
Entrou na cozinha, voltou, o avô dormia na esteira, o setestrelo em cima do peito. Com o silêncio, tanto, o Major acordou.
38 IV
Assim, naqueles dias de dezembro no Muaná, tinha o Major a sua rede entre os cajueiros pelas três da tarde quando o pica-pau no folharal fazia lenha. Muaná via seu Alberto, encarnadão do sol, fugindo de sua viuvez, quase num ar proibido ou sorrateiro. As filhas, na janela, espichavam o queixo, entreolhavam-se, suspendendo os aventais: ai que nem neste sol, misericórdia! A ceguinha, que tudo ouvia, balançando-se na rede, estalava a língua: mas deixem o papai, uai! É a sesta dele, lá, hum. E é muito o sol a fora? Letícia a tudo via, com o sorriso a dizer: viuvez aqui só é a nossa de donzelas.
Nos embalos, o Major ouvia o velho Bibiano, este de perna cruzada na terra, com a sua tanga de zuarte, os braços nodudos, o seu ar de miritizeiro. as cordas de envira, tirava tala do miriti, contando os acontecidos de Areinha no que toca a bicho, a planta, se deu muito cutitiribá, onde ia buscar o seu material de trabalho. Também se punha a conversar com o pé de alecrim, o seu manjericão na panela, os dois periquitos, estes num sono de cabecearem em cima do rolo de cipó. Entoava num ralho, tom pigarrento:
Nos embalos, o Major ouvia o velho Bibiano, este de perna cruzada na terra, com a sua tanga de zuarte, os braços nodudos, o seu ar de miritizeiro. as cordas de envira, tirava tala do miriti, contando os acontecidos de Areinha no que toca a bicho, a planta, se deu muito cutitiribá, onde ia buscar o seu material de trabalho. Também se punha a conversar com o pé de alecrim, o seu manjericão na panela, os dois periquitos, estes num sono de cabecearem em cima do rolo de cipó. Entoava num ralho, tom pigarrento:
“Bola, bolacha, bola em cima, bola em baixo
Bola bolacha, por causa do caruru
Quem não come da castanha
Não percebe do caju”
Bola bolacha, por causa do caruru
Quem não come da castanha
Não percebe do caju”
Nariz no ar, dirigia-se ao Major, se o Major possuía de sobra uma folhinha do ano novo, louvou o comércio antigo, esse, sim, sabia fazer presentes de boas folhinhas, davam um enfeite na parede, alegrar uma sala, eram as caprichadas estampas e figuras, castelos, tamanhos, finas cores, a praça de touros, a torre de ferro do país da França, as vistas do mundo. Também o comércio bem que podia dar suas folhinhas, borracha embarcando a senhor preço, fosse somar. E os almanaques? Ler não sabia, verdade era, mas a sabedoria dos almanaques ia escutando por boca do compadre Benevenuto, que Deus tenha em glória, e 39 da mea afilhada Maria Eulália, que esta, oh cabeça para as leituras... Foi uma febre dar na próxima, levou. Plantei aquele pé de cravo na sepultura dela. Tinha um ler pausado, explicado, sabia, sabia. Lê pros anjos lá.
Até que seu Bibiano, destalando a vara de miriti, num pigarro malicioso, meio maneiroso, de quem pedia desculpa por tanta intimidade e ousadia de arrancar uma confidencia, soltava: E as políticas, Major?
Com as varandas da rede o Major se abanava: aqui o meu reino da Angola. Aqui me vem o pajé na cerimonia de seu ofício, seus pigarros, olhem a solenidade. E mais pajé era quando trazia do baú de folha, sacudindo da poeira, as plumagens de várias aves, plumas muitas, enfiava-se no capacete de índio gavião. Seu olhar brilhava. «E lá me vem a tuxaua. Angola ou tribo, é o meu reino?»
A d. Amélia, voltando do igarapé; molhado, o rosto escurecia mais. Silenciosa, vagarosa, leve do bom nado, dos tantos mergulhos entre os taperebás amarelinhos trazidos pela maré. Uma brusca imagem da África o Major via na mulher, quase agressivo o rosto sério, um marfim negro. Aberta sobre o terreiro, a janela de miriti mostrava a dona vestindo-se no quarto, a cantarolar. A antiga boa modinha, um pedaço de lundu. O Major gostava. A voz, entre queixosa e sossegada, cobria a rede, recordava-lhe batição de tambor, quando? onde? em que noite? fundo de quintal, porão de sobrado, ao pé dum poço? Alta noite, o telhado, no luar, escorria as suas sombras pela folhuda erva de são caetano da parede. O Major escutava. Uma e outra folha de cajueiro pelos punhos da rede; bom não dormir de todo mas cochilar, a madorna meio ouvindo os rumorejos, logo a abrir o olho a um ranger de galho, a um pio da sururina. E despropósito: bem em cima da rede, atravessado pelo raio de sol, aquele caju maduro-maduro. Olhar, apetecer, água na boca, querer apanhar, cadê ânimo? O caju lhe entrava pela madorna, sumarento, a castanha escura, a castanha dos olhos e dos lábios de Amélia. Saindo do quarto, entre os cheiros da cantora, a modinha enleava, a modo que embalava a rede. O cochilo grudava os olhos e o caju, com a sua carne, sumo, travo, doçura, ali em cima 40 no raio de sol, mais no raio que no galho, num tom de brasa. Fosse apanhar, queimava a mão? E mais que de repente um vôo por cima da rede, a bicada, dura, em cheio no caiu que balançou, agora no galho, estremecendo o cajueiro. Tão de repente que o Major sentou na rede, como atingido também pelo passarinho, teria sonhado? Não longe um galo num demorado dó de peito. A modinha se espaçava, cessando pelos açaizeiros do fundo em que se entra e vai para o igarapé, passa pelas pimenteiras onde agora d. Amélia estendia a toalha. Colhia pimenta. Mas arre! suspende a saia, catou nas alturas da coxa uma formiga, a diabinha, tamanha, me subindo, até onde tu queria ir, abelhuda! Saia suspensa, catando as costas, buscava em redor o reino de formiga, nisto gritou, na boca as mãos em concha de quem na beira do rio pede passagem: ei de bordo, seu compadre, ei seu Major, se mexa da rede, me olha um instantinho o torrador ponha no fogo e mexa enquanto apanho aqui... Está me escutando? Baixava a voz: está, seu Majorzinho da Guarda Não Sois Nada?
Voz da Areinha que o chalé desconhecia.
Até que seu Bibiano, destalando a vara de miriti, num pigarro malicioso, meio maneiroso, de quem pedia desculpa por tanta intimidade e ousadia de arrancar uma confidencia, soltava: E as políticas, Major?
Com as varandas da rede o Major se abanava: aqui o meu reino da Angola. Aqui me vem o pajé na cerimonia de seu ofício, seus pigarros, olhem a solenidade. E mais pajé era quando trazia do baú de folha, sacudindo da poeira, as plumagens de várias aves, plumas muitas, enfiava-se no capacete de índio gavião. Seu olhar brilhava. «E lá me vem a tuxaua. Angola ou tribo, é o meu reino?»
A d. Amélia, voltando do igarapé; molhado, o rosto escurecia mais. Silenciosa, vagarosa, leve do bom nado, dos tantos mergulhos entre os taperebás amarelinhos trazidos pela maré. Uma brusca imagem da África o Major via na mulher, quase agressivo o rosto sério, um marfim negro. Aberta sobre o terreiro, a janela de miriti mostrava a dona vestindo-se no quarto, a cantarolar. A antiga boa modinha, um pedaço de lundu. O Major gostava. A voz, entre queixosa e sossegada, cobria a rede, recordava-lhe batição de tambor, quando? onde? em que noite? fundo de quintal, porão de sobrado, ao pé dum poço? Alta noite, o telhado, no luar, escorria as suas sombras pela folhuda erva de são caetano da parede. O Major escutava. Uma e outra folha de cajueiro pelos punhos da rede; bom não dormir de todo mas cochilar, a madorna meio ouvindo os rumorejos, logo a abrir o olho a um ranger de galho, a um pio da sururina. E despropósito: bem em cima da rede, atravessado pelo raio de sol, aquele caju maduro-maduro. Olhar, apetecer, água na boca, querer apanhar, cadê ânimo? O caju lhe entrava pela madorna, sumarento, a castanha escura, a castanha dos olhos e dos lábios de Amélia. Saindo do quarto, entre os cheiros da cantora, a modinha enleava, a modo que embalava a rede. O cochilo grudava os olhos e o caju, com a sua carne, sumo, travo, doçura, ali em cima 40 no raio de sol, mais no raio que no galho, num tom de brasa. Fosse apanhar, queimava a mão? E mais que de repente um vôo por cima da rede, a bicada, dura, em cheio no caiu que balançou, agora no galho, estremecendo o cajueiro. Tão de repente que o Major sentou na rede, como atingido também pelo passarinho, teria sonhado? Não longe um galo num demorado dó de peito. A modinha se espaçava, cessando pelos açaizeiros do fundo em que se entra e vai para o igarapé, passa pelas pimenteiras onde agora d. Amélia estendia a toalha. Colhia pimenta. Mas arre! suspende a saia, catou nas alturas da coxa uma formiga, a diabinha, tamanha, me subindo, até onde tu queria ir, abelhuda! Saia suspensa, catando as costas, buscava em redor o reino de formiga, nisto gritou, na boca as mãos em concha de quem na beira do rio pede passagem: ei de bordo, seu compadre, ei seu Major, se mexa da rede, me olha um instantinho o torrador ponha no fogo e mexa enquanto apanho aqui... Está me escutando? Baixava a voz: está, seu Majorzinho da Guarda Não Sois Nada?
Voz da Areinha que o chalé desconhecia.
V
D. Cecé a passeio na Areinha, acompanhada pelo seu irmão Leônidas, o alfaiate, constante hóspede do chalé em Cachoeira.
— Ah mas vamos dar um pulo lá na Amélia, Leônidas?
— Me tiraste a palavra da boca, rapariga. Lá eu ia.
D. Cecé deu o seu risinho. As barracas, dum lado e outro, medrosas atrás de touceiras, jiraus de plantas, quaradores de roupa.
— A Amélia na Cachoeira sempre se faz de senhora dona. Aqui é a Amelinha filha do seu Bibiano. Tira a chinela do pé. Ou é o contrário? Lá é a cozinheira perante a sociedade e aqui é a madame que vem passar a festa no meio do povinho da Areinha? Que tu acha, Leônidas?
— Numa e noutra casa, é a mesma, Cecé. Amélia não muda.
41 — Até me parece que róis uma simpatia pela preta... hum. Leônidas, não precisa fechar a cara, eu maldei? Simpatia. eu disse. E em que ela não muda? É a de lá, e a de que cá? Muda em que? Pois eu tenho três mudanças, Leônidas, fechado. A irmã tentava emendar-se, tinha brincado; ter simpatia era então alguma maldade? Bem sabia do respeito dele pelo tio.
— E o meu respeito pela Amélia, Cecé?
Entraram no terreiro do velho Bibiano, surpreendendo o Major justamente a mexer o torrador. Enquanto consentia numa vaga benção aos sobrinhos, D. Amélia chegava dos fundos carregada de pimenta. Tomou-lhe a colher de pau. já a d. Cecé, o rosto em cima do torrador, aspirou, louvando «aquele tão bom aroma de café». Canela, tinha? Punha açúcar na hora de torrar? Mas o Major no seu psiu-psiu-psiu, pedindo a atenção, lamenta que Muaná não produzisse o seu café, ao menos para o gasto de casa, terras não tinha? Que lhe dessem um capital, iam ver, bastava aquele terreno das filhas, era ao que ia dedicar-se, ao café. Geral calamidade havia sido mesmo o seringal. Tirou o povo das roças. Fez foi virar capoeira os triviais mandiocais do Pará, um milho, um feijão, pois lavoura se tinha pouco, já havia. Agora, por falta de hábito, e porque não dava a bolama fácil, ou na fiúza de borracha subir, ninguém plantava. ninguém criava? E o Pará tinha sido o primeiro plantador de café. Mas se não pudesse competir com São Paulo, no café, com a Bahia no cacau. Ou criar pato, criar ganso, por que não? Tanto igarapé, tanta alimentação na própria maré para sustentar uma boa pataria, os bandos de gansos. Porém quem podia criar ganso, plantar cacau? Esses que tinham com o que, outras coisas não faziam senão «as políticas», como dizia o velho Bibiano.
— Pobre cria um pato e não cem. Ganso? Já viu um ganso?
Que boiou do folharal, Alfredo apanha a palavra: ganso. Criar ganso? Como o do seu padrinho Barbosa? Gansos em quantidade? Depenar o bicho, comer de forno, de cabidela, no arroz? Na casa do Largo da Trindade, tão fechada quanto muda, o ganso era irmão do gramofone, da caixinha de música e do colégio perdido. Vivia 42 gras|nando que o padrinho estava pobre-pobre-pobre e o queijo que comia na mão do padrinho não tinha mais, O ganso, aquele, tão encardido, era que nem um semelhante, uma gente, um da família. Comer ganso, não.
A Alfredo não escapou o aceno de d. Celeste para a mãe, pedindo para irem as duas lá dentro, no quarto. Que tinha a dona para contar à mãe longe do ouvido do pai, das pessoas ali presentes?
Fazendo que andava à toa, se aproximou da porta, um ventinho suspendeu poeira, mexeu no oratório os ramos secos. Alfredo fazia que assobiava. O retratinho da mãe, na parede, ralhar com ele parecia. As duas num particular que nunca acabava? Pelo que ouvia, d. Cecé não desdenhava de se empoar na barraca, se empoava. E pela porta entreaberta viu: a figura de d. Cecé no espelho; até que se espantou, surpreendido, como quem diz: oh como não vi esse rosto antes? E escutava:
— Mas me deu... eu não ri por ser meu tio, ah, Amélia, o velho mexendo no torrador, a mão branquinha na colher preta, tu mesma, hein, sua esperta? Depois falam por aí que tu não passa de uma cozinheira do Major, que ele te põe no fogão, eu que veja...
Alfredo não via o rosto da mãe nem agora o da d. Cecé. A mãe sacudia o pano, ou a saia, e bico,
— Boa patroa é que estás sendo, rapariga. Tola não sejas. Ah, se as filhas vissem o pai no torrador, era uma fotografia... Coisa que ele não fez, nunca fez, nem no tempo da finada, lá. Nem sabe a cor daquela cozinha.
A cor? Lá da cozinha, das irmãs, a casa do viúvo? Concordava. Alfredo rondando, bebe água do pote, enxota o vunvum, tarrafeava a conversa, puxando para a sua doída curiosidade aquele peixe entre a mãe e a d. Cecé. A cor da cozinha? Ele mesmo, Alfredo, um abelhudo de cozinha alheia, também não sabia. A bem dizer as irmãs fechavam a estranhos a passagem para o fogão. Fogão misterioso ao pé da parede, o teto baixo, muito baixo em comparação com o resto do corpo da casa. Esta com três níveis de soalho. O da sala e porta de corredor, o da alcova, os dois quartos, a varandinha onde se comia, e o da cozinha, descendo-se a esta, toda de chão, por um degrau. 43 De quantas bocas o fogão? Chaminé; isto, tinha, um charuto no telhado. Tempo que o chalé não tinha o seu, Alfredo, invejava o chaminé do Muaná. Mas foi um dia que a mãe chamou o velho pedreiro e com pouco subia telhado acima o chaminé do chalé, oh alegria o fumo saindo, comparado as casas da Europa. Aqui no quintal das irmãs, o limoeiro velho tão da casa era, que nem uma criatura. A sombra das mangueiras descia sobre o chaminé. Natércia, varria, sempre, o quintal palmo a palmo devagar até tudo ficar muito limpinho era ver um soalho. Mas a cor? quem sabia? No galho da cueira, as galinhas bem dormindo ao relento ou nas suas conversas, o galo de vez em quando ralhando. Sentinelas com suas cometas curtas, guardavam os camarões do jirau ou mesmo uns miúdos de uma do poleiro que o Major, para contrariedade e raiva da filha mais velha, de surpresa apetitava. Matar uma galinha? Natércia abafava o seu horror, as aves faziam parte da família, morriam de velhas, a Amélia no chalé acostumou o velho a comer as criaturas, O pai nem sabia dessas criações, ele tão entendido em avicultura; ex-assinante da «Chácaras e Quintais», sempre relia a velha coleção e o «Como fiquei rico criando galinhas», contemplando nas fotografias da «La Hacienda» as alturas de ovos que as galinhas botavam nos Estados Unidos. No chalé, ao pé do fogão (a d. Amélia fritando as postas de mandubé, a por de molho a bacaba no alguidar grande) doutrinava o Major sobre galinha. No quintal, que aos fundos servia também de curral, hoje vazio — por onde tu andas, vaca Merência? — lama e água cobriam quase tudo em tempo de chuva; no tempo seco, dava muita formiga e pulga e gogo e faltava milho, mas o Major cadê que desistia? Aves de raça que comprou? não foi nem uma nem duas. E ovos Leghorn, dúzias, sim, e tão caros! E assim anos, até galinha de raça espanhola. E o pouco que se salvava da criação, a d. Amélia trazia para a cozinha e despensa, era um piupiu embaixo do prelinho Dido, os pintinhos pela casa toda, uns na rede com Maninha e aquele tão goguento, posto dentro do oratório, com esta recomendação:
— Me curem o gogo deste menino, ouviram, seus santos? Senão, senão...
44 Aqui Alfredo, no seu pensamento atalhou: Maria de Nazaré. Que será de Maninha debaixo daqueles sete palmos de mil metros de fundura? Ficou por isso mesmo, morreu morreu? Se desfez tudo? A voz, a impaciência (quero-quero crescer já-já, quero que mamãe me faça um vestido de moça), seu amor aos pintinhos, a compaixão pelos peixinhos, o medo da febre, seu tão cedo sofrimento? O silêncio a que foi obrigada, para sempre? Um escuro tudo aquilo, sem um vaga-lume, nem um? E sobre os sete palmos aquelas cinzas da borboleta queimada lá na dispensa, ah, borboleta, a morte de Maninha te marcou aqui, a tua figura, sempre. E dos anjos o avo dava a certeza? Anjo, anjo, um faz-de-conta do catecismo e das velhas? Assunto dos cânticos do mês de Maria? D. Inácia, a gorda madrinha mãe, quando falava aos seus passarinhos do fundo da casa. amaciava a voz, a mão estendida: venham cá, meus anjinhos, me tragam no bico a inocência e depositem nesta mão. E logo, num ronco surdo: canalhas! E o avo com o seu espírito? Espírito de Mariinha valia mais. Espírito ia lá em cima e as restantes letras caíam, coitadas, fofas, no chão. Em espírito, todas as letras eram. Mas Mariinha, por um acaso, a fumacinha dela não se escapava por entre aquela tanta quantidade de terra, o ar, ou que fosse, a miragem, o fantasminha mal-a-mal o simples vôo, o ruflar de sua aparição? Não, não. Tudo aqui é esta saudade dela, a ferida que ela abriu indo se embora, este simples pensar e ver os pintos no seu colo, o pintinho no oratório, até que os peixinhos lá do fundo bem que entendiam ela; um, não peixe, um sabia que sim: o velho e errante jacaré escutava de Mariinha aqueles chamados que recolhia, levava consigo, sonolento e cego, por essas funduras de balcedo e noite, a voz de Maninha, esta voz, entupida de terra lá no Teso ,e aqui tão perto, tão saindo do irmão:
— Curem o gogo do meu filhinho, senão senão...
E quando foi o grito de Mariinha ao ver os pintinhos se precipitando escada abaixo tibungo! dentro d’água? No galinheiro, deu mucura, contavam que também sucuriju; por fim se esvaziou de vez o galinheiro, virou pavilhão de meninas da vizinhança, no verão, e teve aquela, que comia manga verde, crescida levando Alfredo para debaixo dos poleiros — Alfredo, faz-de-conta que a gente se casou. 45 Marido e mulher, vamos? — e quando viram, lá em cima, no caibro, papo tufado, amarelona, braba, pronta para surrar os dois, uma cobra cutimbóia. Alfredo que se esquecia? Comia pinto a cobra? Que não envenenava, se sabia, surrava, jantava as venenosas, agora dona do galinheiro. Foi um pouco antes de aparecer a Andreza.
Entretanto no Muaná, um chão enxuto-enxuto, o Major nem via o quintal e das galinhas empoeiradas na cuieira petiscava uma e outra durante a festa de dezembro, por uma condescendência, um milagre das moças Coimbras. E eram galinhas da terra, feiosas, que as moças criavam, As moças Coimbras desdenhavam um pouco, ou invejosas, lá do chalé pelas informações que recebiam sobre galinha e depois troçando das Orpington, as Minorcas, as Rhodes entre tratados de galinocultura e os desenganos de d. Amélia, esta mais cozinheira de galinha que criadeira.
No Muaná, o Major se desfazia de suas artes, para ser só o viúvo, o pai servido pelas filhas, uma e outra vez que lia era catálogo ou a Seleta Clássica sempre abrindo na Última Corrida de Touros em Salvaterra. Nessa última temporada, o Major saía mais de seus cômodos para espiar, boquinha da noite, a foguetaria do irmão, pegada aos fundos do quintal e onde o mano, braço torado numa explosão, punha a família toda a amarrar foguetes. O Major passava os olhos na fabricação, sempre advertia contra os descuidos, aquela pólvora ali exposta — olha... olha... — achava que o irmão assim acabaria perdendo o outro braço, senão a cabeça, depois aqui d’el rei, aqui d’el rei... Era exato que, na arte de fogueteiro, se sentia superior ao mano; em fogos fazia fino, lá estava na estante o seu opúsculo sobre pirotecnia que escreveu e imprimiu no Dido; química sabia umas doses e não era em vão que consultava catálogos e volumes portugueses sobre a arte. O irmão ficava no trivial. O pouco que queimava de artifício no arraial em dezembro era sob as vistas do Major, e todos de Muaná sabiam, pois o Major, ali no município, também de Mestre Alberto era chamado.
Mas do fogão de casa, em Muaná o pai mesmo nunca soube, Alfredo via. As moças iam e vinham, ao pé do poço, enchiam, fechavam e abriam a cancela da cozinha e sempre baixo falando, mais por sinais e mexer de boca, 46 uma voz, a delas, afinada naquele calor das trempes, ao embalo da ceguinha na alcova, não falavam, segredavam. Na varanda, à mesa, era o pai e a ceguinha, e o Alfredo, quando este aparecia, nem sempre. As duas, com seus aventais, ficavam na porta da cozinha, ar de copeiras, arrepiando a sobrancelha, mexendo as pestanas, como estivessem explicando: este é o nosso voto, o avental é nosso hábito neste convento. Via-se da janela da varanda o portão do quintal e a rua, atravessando o campo, na direção de Areinha. Dali as duas irmãs podiam fiscalizar o vem e vai das pernas e cabeças de Areinha, no rumo do porto, da igreja ou do cemitério. Quantas vezes não apreciaram a Amélia vindo, naquele seu andar meio apressado de quem andou na cidade, mais vivo o seu pretume no sol; avaliavam o vestido, lhe imaginavam o sapato, os bereguendens, o quanto o chalé sabia tirar do viúvo, aquela parte subtraída da mesada para as filhas. O que ali Amélia vestia, calçava, a elas fazia falta, não esqueciam; nenhuma das moças Coimbras nasceu na Maternidade, elas geradas na lei, filhas de matrimônio. A preta, olhem o luxo, descansou em Belém na mão de doutor, pensionista. Mas nem por isso a Amélia esfolava. Fosse outra, adeus filhas dele, nunca mais viúvo.
E as quantas pessoas que acompanhavam a Amélia no caminho da Areinha? Nunca aparecia só, também nunca ao lado do Major, as moças Coimbras atestavam, Não tinham do que falar: Amélia não exibia. Não queriam ver nisso um orgulho da preta mas um cuidado, conhecendo o seu lugar. Ou por que o pai ditou? Não, ninguém ditava para Amélia. Nunca viram nunca souberam que em Belém sim, Amélia e o Major, era juntos em toda parte, Teatro da Paz, Bosque, Museu, revista de arraial de Nazaré, juntos, e. como viu a Mãe Ciana, até de braço dado. Mas isso, há anos. Nunca mais foram juntos a Belém, E desse tempo Alfredo sentia inveja, ciúme, saudade, um miúdo ressentimento que metia no caroço de tucumã, e dentro do faz-de-conta voltavam os dois a Belém, acompanhava a mãe e o pai, Belém pelo direito e avesso, os três juntos.
A Areinha apreciava esse retraimento da Amélia, bem sossegada na sombra, sempre atrás da igreja quando o Major na frente estava, entre as autoridades, entre as 47 famílias. A Areinha via nisso um orgulho de Amélia e de que também seu povo se orgulhava, tinham um respeito, se admiravam, diziam: assim é, muito que bem. Alguns velhos, e velhas, viam mesmo nessa ligação tão recatada uma boa sina, um sinal de Deus para punir os brancos e exaltar os pretos e fazer das duas raças e das condições de uma e de outra uma harmonia, o casamento, não na igreja, não no juiz, mas nos altos desígnios, entre um Major de pura brancura e uma lavadeira de puro escurume. Em tudo isso Alfredo estava, a custo decifrando e o certo é que sua mãe na Areinha era vista um pouco numa altura, lá na janela do chalé. Havia por esse fato na Areinha um geral silencioso humilde regozijo e uma secreta vingança contra os Coimbras, as Oliveiras e demais sociedade. Mas Alfredo tremia ao pensar que, cedo ou tarde, a Areinha tão ancha de d. Amélia, ia saber o que se passava no chalé, aquela bruxaria das garrafas. Talvez fosse até melhor chamar um, chamar outro, ir avisando e fizesse que a Areinha, por força de oração, duns cozimentos, umas bruzundangas, uma qualquer ação, curasse a mãe. Mas cadê para dar esse aviso? Se a mãe viesse a saber? Ferir a mãe, não. Ah mas sabia que a Areinha, aquela, que festejou a mãe, bastaria saber logo acudiria, sim, o que não faziam para sarar a mãe, não deixar que ninguém dos brancos viesse quebrar a castanha na boca dos pretos, morenos, tisnados, curibocas, sararás de Areinha. E se quando soubesse já fosse tão tarde?
Aqui voltou Alfredo à conversa de d. Cecé. Da cozinha o Major nem a cor sabia? Possível. E Alfredo maginava: não tinha bisbilhotado bem-bem a casa das irmãs.
D. Cecé, falando do pai e da cozinha, lhe atiçava a curiosidade para agora estudar mais o corpo da moradia, ver melhor a alcova onde a ceguinha embalava a sua escuridão com aquela telha de vidro escorrendo pelos punhos da rede. Abrir aquele quarto, ou dispensa, onde se aninhavam os teréns antigos e mortos da família. Estava ali o casco do encouraçado «Minas Gerais» de cartão e papelão feito pelo Eutanásio? E a armação do aeroplano, cor de rosa, rabo azulino, que o mesmo Eutanásio empinou? Ficou aí o Eutanásio que não foi? Ali decerto, quando o velho regressava a Cachoeira, a viuvez recolhia-se?
48 Receoso, não retirou a tranca do quarto. E me dá o nome deste teu cheiro, casa. Das irmãs, não era, ou então de seus amuos e aventais, de seus ferrolhos, um bolor de solidão, aquele nariz torcido para o mundo. Também elas deixavam trancado o seu melhor naquele quarto? Idosas não eram não. A ceguinha, fosse ver, uns vinte anos que pareciam quinze, ou não contava tempo em certas horas tão menina como em outras tão pura imagem. Natércia, sim, via-se, dobrava o cabo mas desse envelhecer que chega e pão chia e quase nunca chega. Leitícia, nesta irmã, Alfredo se admirava: os cabelos, depois do banho, ela trazia derramados, enxugando; faziam de Leitícia uma freira de longo véu cheirando a sabonete e que lhe amorenava o rosto pálido, os beiços um tanto castanhos. Mas penteassem aquele véu na moda, podia ou não figurar entre as mais bem parecidas do Muaná, de Cachoeira, até mesmo de Belém, por exemplo numa das janelas da Estrada de Nazaré? Bastaria se desencaramujar um pouquinho, desentristecer o semblante. Tirar do juízo de que já deu o tiro, pois nem gordona como a d. Emília Alcântara, de apreciável cintura bem era. Uma e outra vez, ao lhe sentir o sorriso desiludido, Alfredo reinou de lhe dizer: Ora, Leitícia, não te encoruja, te tira desse teu avental. desenrabuja, vamos no arraial dar um giro, rodar com as moças em volta do coreto onde a banda toca; mamãe te talha um vestido, te empoa, te penteia, te aperta a cintura; mamãe mesmo dizia no chalé: se aquela pirrônica saísse do seu caramujo, deixasse, eu então não preparava ela, não entonava? Num átimo, fosse prum baile, missa ou seu casamento. É verdade que a mãe dizia, indo e vindo da dispensa onde dentro da garrafa o diabo borbulhava.
Alfredo fecha os olhos, num travo em que se sente arrepiadinho como se fosse sinal de febre. Sombra da nhá Lucíola? Lucíola, pelo reino das almas, deixa de me perseguir, me deixe crescer, sim, que quero logo.
Foi dizer isto, se arrependeu: estava sendo, mais uma vez, muito mal agradecido para com aquela que sempre um bem de mãe lhe quis. Pelo muito que tanto sofreu, a pobre devia estar... Preferia aqui juntinho dele, sem voz, para lhe dizer: Alfredo, paciência que tu cresce. A Deus peço.
49 Assim em boa paz, sim, podia, mas nunca em forma de visagem, sempre invisível ficasse, nem a voz queria. Por que disse o não a Edmundo Meneses? Como explicar o três vezes «não» aqui de novo soando, um «não» que vem nos sonhos, no mesmo vento que leva o búfalo com o homem em cima para as fazendas do fundo? O além é aqui mesmo, dizia o avo, podiam confirmar? O pai, que opinião tinha? O além de Lucíola, sou eu então, eras! Mas eu assim ofendo a sua alma, e indagando do seu «não», por força ela pode vir me responder, não quero.
Mas Leitícia não era Lucíola, e que fazer com esta irmã que se demitia de moça? Maninha, já daquele tamaninho, era um fogo de passar por moça, se enfeitar tão cedo, a faceirice, coitadinha. E Leitícia, vejam, tamanha mulher, fôlego para viver, ali de pura vontade se desbotando. Tão aveludada no falar, no dar a mão, estender a toalha, mexer o beiço, no fazer o prato da ceguinha. Os olhos, retintos, eram até dados, falavam por si mesmos mais que a dona, de um querer dar e ter um agrado e o beiço a dizer não, querer rir, querer olhar, curioso do que ninguém via, e o dente a morder o beiço. Sim, que debaixo daquele veludo ia um gênio! Ouvissem as surdas brigas em casa. os ralhos contra a ceguinha, o rem-rem contra cachorro, o periquito, como se nestes encarnasse a gente que ela desqueria, desprezava, de só ver cuspir. Os aventais tomavam conta de Natércia e Leitícia. Vedavam a casa e delas era também aquela fumacinha saindo do chaminé do telhado que Alfredo espiava do quintal, ao pé do limoeiro, sendo que este, por sua velhice e bom limão, merecia das duas um especial carinho. Leitícia bem que se entendia com ele, o limoeiro era a farmácia delas, dos vizinhos, nas doenças de garganta, rouquidões, caldos de peixe; limoeiro e elas tinham um bom parentesco.
Alfredo voou para dentro da barraca. Queria definição daquele conferenciar tão demorado entre a mãe e a Cecé, Que a mãe conversasse com a Dorotéia pela madrugada, agora por já terem conversado, tinha a sua explicação, ambos do mesmo sangue, não se viam anos... Mas com a d. Cecé?
50 De oiça afinada, até que perguntou ao coqueirinho o que nunca crescia: mas a d. Cecé? Qual dá duas se confessava?
D. Amélia escutou a d. Cecé até com uma certa agradável surpresa. Logo se meteu na concha, não soubesse ela que a d. Cecé, fosse aqui, céu e inferno, era sempre uma Oliveira. Quem mais mal falou da cozinheira do Major senão as Oliveiras? Sabia aquelas línguas, os teus agrados dos dentes pra fora, te oiço e me guardo, boca cheirava, coração fedia, quem te conhece que te compre, senhora dona Celeste.
Alfredo afia o ouvido na brecha da parede, as duas ainda no quarto. Por que de supetão a mãe se sai dizendo que seu Alberto em matéria de tempero tem dois gostos. um no Muaná, outro em Cachoeira?
— Aqui é o gosto de viúvo. Lá é do... Eras. Me deixa calar,
Isso desagradou o filho. Se deu conta que a mãe ria e ele também aqui fora, descolocando-se da brecha e fugindo se pôs a rir, a rir dela, sem deixar de se agradar com o repentino tamanho riso da mãe, solto pelo terreiro, cantando. Mas rir, ele, por que? Como se estivesse rindo dos papéis dela em Cachoeira, desenrolhando o diabo da garrafa? No chalé, a mãe, embrabecida, saindo da dispensa escura, dizia alto que seu Alberto em Muaná comia na comida o cominho da prateleira do seu Aguiar. que as filhas lhe davam, comia sem um pio, ouviu? No chalé cominho era palavra riscada no dicionário da cozinha. Os luxos do seu Major, do Secretário, era só no chalé. Em Muaná, tome cominho. Entenda-se! Entenda-se!
Ah, sim, Alfredo ria: a casa das irmãs estava naquele gosto de cominho com que elas temperavam o cozido, o molho do camarão frito e os seus arredios. Cominho havia naquela surda antipatia delas pelas moças de Muaná todas no trapiche ao chegar o gaiola da linha; no gostinho tão compadecido de saber o que ia de mal na casa do juiz, do Intendente, da professora. Cominho havia no mexer do nariz, no espalmar as mãos no ar para tão fingido se 51 prote|gerem do fuxico que entrava pela porta, zumbindo. Com o zumbidinho nas orelhas, o esbugalhado olhar, faziam parte: não, não nos venham com novidade, conversa aqui o demonio leva, vai te embora, maribondo. Piscavam uma com outra, o nariz ávido e nas meias palavras, os bagos dos olhos reluziam. Sumiam num resmungo para a cozinha. atiçando, sem ser preciso, mais fogo no fogão. Quando era grave o caso alheio, Natércia fazia um ar de pena assombrada, depois zombeteira, de consternado regozijo, enquanto a Leitícia sorria que sorria nos olhos, o beiço inquieto, o dedo belisca, puxa, alisa a gola da blusa, não se sabendo se sorria da novidade ou da excitação da irmã em temperar e saborear aquele bom prato do mal alheio. Dentro da alcova, impaciente, resmungona, os esses da rede gemendo no embalo apressado, a ceguinha queria porque queria saber. E assim com isso e mais o cominho, temperavam o jantar do pai.
Contra semelhante cominho, a mãe não tinha direito de soltar as suas? Quando em seu juízo, garrafa seca atrás do armário e nenhuma chegando na mão de menino, a mãe falavazinho por falar, meio se aborrecendo logo na mansa zombaria com seu Alberto, este tão obediente aos velhos modos de Muaná. Em Muaná, tinha de engolir caladinho as comidas de viúvo, era da regra social, ter de cumprir o testemunho do casório civil e ao pé do altar. Cominho! Pimenta do reino! Temperos mofados, de lata, do velho estoque tempos da borracha. No chalé, ou era água e sal, ou temperado fino. Acrescente o cuento sic verde, a alfavaca da horta, a chicória trazida pela comadre Porcina, os molhos na hora, o fogo das malaguetas, o queima-beiço das pimentas de cheiro, estas amarelinhas, queimosas de no olho arder. Seu Alberto? Fora do temperado fino ou da água e sal, passava de largo. Era ir pro Muaná, comia o mofo, o bolor do balcão do seu Aguiar. Para tapar a boca da Amélia, quando esta se punha a bater língua consoante ao cominho, seu Alberto rebocava o assunto para seus conhecimentos; então despejava em cima daquela ignorante de Areinha toda uma sabedoria em comeres e beberes. Dava-lhe livros, verdadeiros dicionários, verdadeiras bíblias de cozinhar e fazer doce e até que ela ia lendo com o pouco ou nada que sabia — ia adivinhando — de leitura 52 e definição daqueles nomes, palavras, receitas, explicações em efes e erres, tanta prosápia e suas finuras, uma nomeação tão estrangeira, ora, quando tudo ia para um só fim, que nem valia a pena estar lembrando, falasse a tua e a minha tripa. E seu Alberto lhe trazia no catálogo fogões de ferro, sublimes caçarolas, molhos em Conserva, terrinas da França e da Alemanha, falando de abades e demais comilões deste vale de lágrima e toucinho. E do cozinheiro da Corte de França que se matou por não ter levado à mesa o peixe para o Rei? Ah, era tanto caso de comedoria nos livros, tudo escrito nas letras de chumbo, aquelas das caixas de tipos do chalé. Tinham um valor, uma fantasia que aqui fora não tinha, aqui no comum do mundo neste sal grosso. Escrito nos livros tudo passava a valer mais, embora de verdadeiro mesmo só fosse aquela folhagem de bucho que metia no feijão com jerimum. Seu Alberto era das gramáticas, cobria de manjares a tão desprevenida mesa do chalé, onde o mais das vezes o que tinha: um picado e um arroz chorado ou chá com pão, Major fazia jorrar aqueles banquetes dos livros e das pinturas, minus de nome francês caindo que nem regalos do Imperador Carlos Magno e o que os Césares comiam. Ao vê-la com um pedaço de fígado fresco na mão, sangrando ainda, seu Alberto saía com esta: tu assim preta, rapariga, és o abutre com o fígado do homem. Seu Alberto doido! Fígado do homem! Já me virei então no curupira de dente verde viciado em comer fígado dos homens no mato, como estoria o Sebastião? Vá ver que é o dele, que dele um dia eu tiro mesmo, esse homem! Seu Alberto de tanto ler até que amolecia o miolo? E demais conversas, a palavra gastronomia, o nome francês dum comilão que comia desconforme, descomunal pança, que se via numa figura? «Os frades se empanturravam de Teologia e do bom leitão», Major abria a camisa, dava palmadinhas na alva barriga empinada:... ter água na boca por causa do Paraíso e do toucinho na brasa... Gula de Deus e do torresmo. Nada de comer gafanhoto.»
Mas d. Amélia, por indagações feitas, puxando pelo filho, sabia do regulamento das duas moças do Muaná: a comida rala, o medidinho, de se comer com palito. Aquela ração de passarinho no meio do prato? Não era 53 mesmo que passar a gafanhoto? E com cominho! Pois na casa de viúvo, debaixo da lei das filhas, o seu Major gafanhoteava.
Ouvindo-a falar assim, Alfredo sentiu uns tais e quais exageros da mãe. Ele contava, sim, para que encobrir? dum ar de escassidão que havia lá na casa das irmãs. Mas embora pouco, lá também se comia, isso ninguém podia negar, que ter, tinha. Que elas poupavam, de chegar recolher da toalha os bagos da farinha, rendiam o osso do meio quilinho de carne? Não dizia que não. Também comida de grilo, menos verdade. Vez por outra, sem aviso, só por opinioso, lhe dava de chegar na casa delas, hora-hora do jantar, o momento em que a Natércia, pela porta entreaberta da alcova, metia a cabeça na sala: Papai, na mesa. Dizia abafado, quase num segredo, num tom de quem já tivesse chamado tanto. O pai, nariz no catálogo, surdo, lá nas Alemanhas. Alfredo, ali, de repente, cara seca, tendo de ser convidado, acolhido entre sorrisinhos. Via no olhar de Natércia a faísca do desagrado, um arrepio pela testa ,sacudindo mais vezes o avental de saca de milho, como se lhe dissesse: Sabes se a comida dá? Aqui, se não mingua, também não sobra. E jantar é quando papai está. O mais que se janta nesta casa, nós sozinhas, é chá, uma e outra vez, com beiju cica. E já a outra, a Leitícia, trazia o prato, «te senta», mandava. Ele ia não querer, mas cedeu ao encanto de comer em casa alheia (inteiramente alheia?), à novidade do cominho e ao puro gosto de contrariar as duas. Natércia, ela mesma, servia aquela mal aparecido: «come, que tem, tem mais, mas come. Insistia. Alfredo se indagava: educação dela, dos dentes pra fora, opinião, era? «Come, mas come, deixa de cerimônia. Tira mais este». Ele escutava às avessas, ouvia ranger lá por dentro dela a contrariedade. O pai comia, calado, comia viúvo, tome cominho, entenda-se, entenda-se, dizia a mãe no chalé, Comia com este e aquele sorriso sobre o que pensava dos assuntos lá de fora, meio tentando abrir-se para as filhas, naquele jeito seu do chalé, procurando Amélia, aos psius, na horta, cozinha, pé do poço, da tina, do galinheiro, vendo-a de joelhos ,dobrada a varrer embaixo das caixas dos tipos, para dizer-lhe o que pensava da peregrinação à Terra Santa, o roubo da Gioconda em 54 Paris, estrume das vacas no canteiro de couve. Mas Natércia não se cansava: Come, aquele-menino. Rogo fingido? Recostava-se na janela da varanda, olho alto. nariz gavião, estalando os dedos, piscando; «come, que tem» era para dizer que ele, Alfredo, lhe havia papado a ração? E Alfredo corria os olhos pelas três irmãs. Leitícia, esta, inclinava o ombro numa risonha aprovação. A ceguinha, nariz no prato, fina e alva na sua redoma. De olhar nele, a Natércia, dizendo com a boca: come» e o olhar: «quem te mandou vir?» Que dizia mais, que dizia mais, minha Nossa Senhora, um olhar daquele, piscador? Acabei a ração, O meu jantar me espera lá na Areinha, não rejeito. A ceguinha. na sua redoma, por uma casualidade comia? Ou comungava?
De tudo isso, um pouco, Alfredo relatava à mãe, os mais sentimentos guardava. Mas gafanhoto, não.
E foi um dia, na Areinha, na hora da jantar, trazendo um prato tampado, Alfredo falou na mesa, muito sério:
— Tome, mamãe, se sirva. É um prato do papai lá.
— Lá?
A mãe, de cabeça inclinada, a mão suspensa, lá? Que destampou, fez foi um tal nojo, cuspiu, ralhou e logo os dentes de fora, aqueles seus que, sem ela mesmo rir, se riam por si, por todos nós.
— Mas, seu imaginoso, só queria era saber o que te passou pela cabeça. Pois dois gafanhotos com cominho, axi! Estou é a tua invenção. E onde tu foste desencavar cominho? Estou é a cabeça. Pois eu duvido, aposto, duvido tu levares lá, vai, a tua cabeça! A tua cabeça! Leve o teu quitute lá, te pago, se levares, levas?
E agora ria toda, todo o seu pretume, olhos, faces, colo. em que o filho deitou a cabeça, dado por pago, bastava a mãe rir, assim, sem aquele escuro lá da dispensa no chalé, ah, por que ela não ficava na Areinha, enquanto ele em Belém estudasse bem sossegado?
Mas levantou a cabeça, fugindo, tinha enfim feito aquilo para punir a língua da mãe. Pois apesar de comidinha de curió, aquele jantar das irmãs tinha o seu gosto, não era de se enjoar. A novidade do cominho e da pimenta do reino? Um calafrio bem lá por dentro lhe impedia de dizer alto na Areinha, no queixo da mãe: eu que até gosto 55 da comida lá delas, varia da do chalé, assim, por uns dias, um pulo, de repente, naquela janta. Isso ofendia a mãe?
Agora, no terreiro, entre a d. Celeste, o Major, o Leônidas e a d. Amélia, a conversa macia. D. Celeste, num assunto de ares para a saúde, achava que era bem natural o tio Alberto em Cachoeira ter outro paladar. Clima, água, o ar. Questão fina, essa, dos ares. Em Muaná, terreno firme, não sujeito a inundações, podiam as primas (ela dizia as «primas» com um jeito especial de agradar o Major, de lembrar que era da família) podiam as primas temperar..
— Não é, tio Alberto? Tio Alberto, o sr. não concorda?
A maliciosidade... observava a d. Amélia. Estalou a língua num muxoxo que se expressava assim: ah s’ coisa... e disse, por dizer, para encerrar o assunto num tom de quem conta uma estória:
— Assim são os cominhos e as pimentas do reino do Muaná.
Mas obscuramente entendia que aqueles temperos indicavam a barreira entre ela e as Coimbras, entre a casa das filhas do Major e o chalé do Alfredo.
Num outro assunto, a d. Celeste aproveitou para só falar bem do chalé. Apesar das águas. não havia leite, a verdura, os bons cuidados? Amélia se arrepiou: debique? «Não é uma cobra esta mulher?» E no silêncio, d. Celeste acenou para Alfredo, ali meio de lado:
— E esse teuzinho aí, Amélia? Dá?
Alfredo ergueu o rosto, arpoado; olhou para a mãe que sorria. De vários modos, D. Amélia decifrava a pergunta. Que afinal queria dizer a excelentíssima? Fazia pouco? Duvidando das aptidões dum filho natural, filho de uma da Areinha?
Fez com a cabeça que ia-se ver, ia-se ver .por dentro dizendo: Tu tem o teu, mulher, mulher, põe isto no juízo, e olha o que te sucedeu, tu mesmo não te emenda? Estás 56 certa de que o teu é menos cabeçudo que este meu? O teu? Sei que é o mimo, soube, o mimo em figura de gente. O mimo, que este meu não não tem tanto, o bastante que teve agradeça à finada Lucíola, este menino ela estragou um pouco, a coitada, mas por mim desculpo.
— Que o meu filho tem cabeça ou não, d. Cecé, é a sorte, é o estudo dele. Senão, paciência.
Alfredo pensava em d. Inácia Alcântara, a madrinha mãe: tem bem miolo, rapaz, que eu te faço um ladrão de sobrecasaca.
Não contente, d. Cecé apelou para o tio:
— Hein, meu tio, que o sr. acha? Este da Amélia. o estudante, vai?
Alfredo sentiu-se ovelha no leilão, escoou-se para atrás da casa. D. Amélia se impacientava. «Este da Amélia» Dá? Vai? Fale claro, minha senhora, diga o que sente, tire o que tem debaixo da língua.
O Major responde com um sorriso de «sei lá, sei lá», admitindo que menino de agora não era, como no seu tempo, que sabia de cor o catecismo, até a introdução da missa. Isto surpreendeu o Alfredo. O pai puxou foi um assunto só para mostrar o quanto sabia das artes do catolicismo? O Major imitava o padre, dizendo introibo, diante do altar, vai-não-vai, quem sou eu, eu quem sou eu, mea culpa... Alfredo avaliava aqueles fingimentos, tudo uma custosa cerimonia. Situba do boi bumbá «Garantido» não era assim? Devoção, da verdadeira, sem tais latins nem meximentos de corpo era aquela do tio Ezequiel, sem nenhuma mesura, ladainheiro puxado à sustância, ali duro no pé do oratório, mão espalmada no canto da boca; capaz dos santos, lá. ao conversarem: Vamos a ver o que a gente pode fazer por ele, não é um mau preto aquele filho do seu Bibiano.
Da missa o Major fez a sua representação no terreiro. O mais engraçado para Alfredo foi que o pai, nas vezes do padre, fazia de altar a mãe e a esta a d. Cecé piscava, piscava ao Alfredo e este: a mamãe bem que está encabulada. O Leônidas podia contar na vila, nas viagens; meu tio Alberto até de altar já faz aquela preta e na falta dum padre bem que o tio preenche,
Nisto que o Major acabou, o Leônidas se saiu:
57 — E lá de Cachoeira, Amélia, os meus fregueses? Pávulos do meu feitio?
— Tu nem queira saber, aquele-menino. Querem mandar intimação para cobrar os tamanhos prejuízos, o tanto teu estrago de pano. Andam assados. Aquilo que nunca que foi alfaiate. É um remenda saco, é o que falam. Põe, põe teu pé em Cachoeira e vê uma coisa, põe. Que val que tens esse teu tio, é o que val. Mas põe o pé lá. Te talham no cepo do mercado, com a tua própria tesoura, alfaiate do Pai Francisco.
D. Celeste riu. Mas d. Amélia não se enganava. No seu gracejo quis também ferir a irmã do alfaiate; sabia ao certo que uma Oliveira achava sempre demais aquelas liberdades partindo de uma preta. Para as Oliveiras, Leônidas devia se dar a mais respeito, não permitir tais brincadeiras; a pessoas assim, como a Amélia, bastava dar o pé...
Ao riso da d. Cecé, respondia a d. Amélia com o seu, largo, um pouco satisfeita, puro gracejo, sim, mas as Oliveiras consentiam?
— Não foi, seu Alberto, não é?
Pergunta que era um desafio, a exibição de mais uma intimidade, a exigir do Major um testemunho travesso, pondo o Secretário ao lado da sua cozinheira... D. Amélia achava uma graça, e d. Cecé, naturalmente, embora julgasse impróprio o gracejo, pensava apenas que o riso da preta era limpo de intenção. O Major sorria o seu consentimento. D. Amélia num prazer. Via na Oliveira o risinho azedo, obrigado, doendo. As Oliveiras não concebiam o alfaiate em Leônidas. No que dava não escutar conselho da família, a meter-se na boca do forno da padaria, ao pé da máquina do mestre Evaristo, tanto fez, tanto fez, que acabou fazendo massa, acabou cortando pano, desgarrado da casa, ontem padeiro, hoje alfaiate, amanhã de novo amassando fermento, errante por aí no mundo, esquecido do nome, da família... E aqui estava o Leônidas a ouvir da boca da filha de seu Bibiano que era alfaiate do Pai Francisco, do Cazumbá. Não por falta de boa cabeça, foi nascido prum banco de faculdade, ter uma carreira, fazendo proveito do nome de herança, sim, que as posses se 58 acaba|ram, o casarão da família as paredes do fundo iam-não-iam, a irmã, uma noite, doidou fugindo num vapor... D. Amélia deu outro riso, satisfeita. Leônidas igualava-se aos da Areinha e d. Celeste a ter que engolir, qual das Celestes? Aqui a d. Cecé é de Oliveira, figurando que passeia na Areinha e d. Celeste a ter que engolir, qual das Celestes? tem. A de bordo, quem foi, ninguém soube, depois que o casamento .botou a pedra em cima. E a outra de Belém, da Passagem Mac-Donald, a casa o rumo ninguém sabia. As Oliveiras! E este outro Oliveira, em vez de doutor, ao menos alfaiate no Recife, no Rio, descaminhou por estes rios, tesoura na mão, alfaiate de beira do mangue.
D. Amélia noutras liberdades fazia ver: aqui neste terreiro, minha senhora, todos somos iguais. A distância que vai do seu irmão a esta preta, que está rindo aqui. sem que a senhora saiba porque ri, existe dentro do. vosso velho sobrado, lá. Aqui, se despeça. Render homenagem? Em que é melhor que o meu irmão Antônio, o teu irmão Leônidas? Agüente a graça que o sal doa na ferida,
D. Cecé sorria sempre, abotoou a camisa do Major, queria falar uma coisa, não falou, olhando o chão, pensativa, Leônidas, este, satisfeito, apreciando a invenção da Amélia. O que ela dizia era ao contrário, sim. Poucos em Marajó, talhavam pano, fosse casimira inglesa, linho
H. J., igual a ele. Sua tesoura, em Muaná, Ilhas, essas serrarias, esses engenhos de cachaça, Ponta de Pedras, São Francisco de Jararaca, Cachoeira, Lago Arari, mares da Mexiana, essas fazendas, deixavam nome. E aqui d. Amélia emenda o pensar íntimo do Leônidas: se a família Oliveira tinha ainda o que mostrar de bom era então o alfaiate, seu fino cortar, cozer, vestir. Dois ofícios aprendeu, não era pra se gabar, mas que sabia, isto afiançava. Seu Alberto ,tão escasso em elogios, louvou. Comessem o pão amassado e levado ao forno nas mãos de Leônidas. Vestissem na sua medição, seu feitio, prova e contraprova. Oficial de duas coisas que o homem mais carecia: o pão e a roupa, não vinha desde a Bíblia?
Ainda no pensar da d. Amélia:. d. Cecé, em seus sorrisos afiava um ferrão nos olhos, na voz meio macia, meio 59 cantante, escorria um desprezo. Mas quem visse aquela criatura pela primeira vez, cativo dela ficava,
D. Amélia foi coar um café pras visitas. Debaixo daquela figura? Da voz? Do olhar? Do queixo, boca, as faces? Justiça lhe seja feita, d. Cecé mudar não mudava. Bonita era, bonita é. Essa aí, no terreiro, açucarando-se para a banda do tio (que não tragava tais parentes), meu tio pra ali, meu tio pra cá? A fina! E o ar de quem é a mesma, a mesma daquele casarão agora me agüenta senão eu caio; o seu . trajar diz ainda que a fortuna não foi abaixo, as grandezas continuam, quando só é casca por fora o que ainda enfeita são os azulejos da fachada, nela e na casa... E agora me visitando? Com que fim? Ela que... a finada Antônia dos Navegantes me suba da sepultura e volte a dizer o que escutou de uma janela à noite. A finada Antônia passava e ouviu foi as coisas que essa aí, agora inocentinha no terreiro, soltou, falando de mim quando segui com seu Alberto pra Cachoeira: mas meu tio metido com preta daquela iguala? Aquela negrinha da Areinha? Meu tio mesmo não se dá apreço. Que malefício foi, que ele correu, apanha do igarapé aquela encantada? Pois não levou a joana ninguém pra Cachoeira, a negra emperiquitada num chalé? A finada Antônia, nessa ocasião, passavazinho justo pela porta das Oliveiras; estas, entretidas na janela, comiam tangerinas, nem viram quem passava, como também nem adivinharam o que era que já rondava aquele sobrado, e que roía por dentro da madeira. Nem notaram quem passava, sim, Antônia, a pobre, já então bem doente, direitinho um tacamim andando, por ali passou; não tinha cera no ouvido, foi ouvir, chegou que chegou, a alma pela boca, na Areinha, e contando e repetindo: esta eu ouvi, quem mais falava era a Cecé, a d. Cecé.
Ah, tenho ainda, te lembra, Amélia, de acender uma vela na sepultura da minha triste prima, ah prima Antônia, esvaidinha, do seu corpo não tinha mais nenhum osso, tudo que ali sobrava era coração.
D. Amélia chama o filho que leva a bandeja do café,
— Ah, gente, mas esperem, agora me lembrei, me deixem eu fazer já uns beijus, é um repente.
Assando os beijus, o ouvido era no terreiro, mariscando a conversa, seu Alberto nas suas sabedorias, com a 60 sobrinha de beiço caído. D. Cecé, vezes, falando da família. até que a voz mudava. Aquela? Duvidando do meu filho? Não pode ir estudar, por que, me de a razão, por ser meu filho? Visse as notas dele, sim que não valia a pena estar anunciando a Deus e ao mundo, cantar glória ,podia estragar quem ainda mal-a-mal iazinho principando. Mas o quadro de honra dele no Grupo Escolar Barão do Rio Branco? O ler dele, o jeito de desfolhar o jornal, perna em cima da perna, abrir a estante do pai, um pouco impaciente e um ar convencido de quem falasse assim: vocês, livros,, serão meus. Ah duvidando desfazendo descrendo do meu filho, que eu é que sei o quanto me custa, o quanto me dói sustentar a criatura lá na cidade, ele que sempre me falou num colégio, sonhou as alturas, num orgulho de, um dia, saber. E agora de novo, foi o que tanto conversei com a Dorotéia, não tinha um canto onde ficar em Belém. Casa dos primos, na Rui Barbosa, nem um alfinete ali cabia mais. Onde agasalhar? Ah, eu nos meus cuidados de levar o Alfredo de volta e me aparece essa São Tomé no terreiro. Duvidasse do dela, do mimozinho dela, daquele bendito-é-o-fruto da d. Cecé, o mimoso que tinha um nome. que nunca foi nome de gente, nome que se põe em canoa. Um batelão, em rebocador da Port Of, em remédio de rico, aquelas coisas dos catálogos, dicionários e gramáticas do seu Alberto, nomes de astronomia, que nome pra teu filho me arranjaste, majestade... que até dizer, eu sei? Sim, seu Alberto, me desencantou do igarapé, sou a negra Amélia, que me prezo de ser, nunca fui moça de família... Mas, e ela, Cecé quem que causou todo aquele fim de mundo na noite do baile no «Trombetas», logo-logo depois que assoprou aquilo na janela em cima do ouvido da finada Antônia dos Navegantes? Ouvissem o mercado, a vila batendo língua, os precedentes daquela dama da corte do Muaná, como gracejava o seu Alberto, este obrigado a engolir semelhante parentesco. No tempo de grande, a irmã dele, a boa da mãe da d. Cecé, nunca inclinou o ouvido para um «me acuda» do irmão, se quisesse este gritar nas suas maiores precisões. (Jamais gritou, de orgulho). Ela de tromba empinada no braço do marido rico e juiz, e o seu Alberto secretariando sempre, perdendo a mulher, nunca dando o braço a torcer a semelhante parente.
61 Esta santa, aí, no terreiro? O papel que fez! Do papel da d. Cecé, da d. Celeste, ouvissem, puxasse pela língua da Dorotéia; ah, Dorotéia, lá de dentro das cozinhas ricas, fosses tu falar do que tu sabes, fosse mil noites, que a Dorotéia tinha em cada noite estória a debulhar. Fosse ouvir o balcão do seu Aguiar, aquela branquidade do centro da vila, os graúdos e os miúdos, fosse estoriar. Bastava a passagem daquela noite, a noite do baile a bordo do vapor «Trombetas». Foi que foi um vento soprando da vila para Areinha, tamanha hora da noite: o baile acabou, o «Trombetas» desatracou, e estourou que uma moça fugiu, moça? Mas qual moça? Uma do baile? Moça família? Botou asa na frente, foi-se, voou que voou. Se bem voou, longe de longe está; a moça qual foi? De dentro do baile? Não! Mas jura! Deixem de novidade, não azarem, não agoirem, não foi! Que é que estão me dizendo? Uma das Oliveiras? O cão te arranque a língua, mentiroso. Inventador! Mas assim? Então foi? A filha da d. Teodora Oliveira? Não. A mais velha? A do meio? Mas a Cecé? A d. Celeste Coimbra de Oliveira, da família Oliveira, a filha do Doutor Juiz, a namorada desde menininha do filho do velho Brasilino? Indo embora com quem, pessoal? Tudo menos essa brincadeira. Com o comandante? A Areinha pulou da rede, a falância entra e sai, sacode as coisas, as esteiras, acende os cachimbos, era uma vez sono, todos nos terreiro, as bocas juntas, um que chega e acrescenta, outro que parte atrás de novas, assim uma palavra que veio se junta a outra, esta pessoa falando com aquela, qual a formiga que acha no caminho um açúcar, vai, fala no ouvido da outra de repente o formigueiro. Celeste? A Cecé? A madrinha Cecé? A filha do doutor Juiz, homem de posses. dos senhores bailes no casarão de azulejos? Milhas andava o navio no de-com força, rompendo a mareagem e em terra os altos brados, a confusão nas Oliveiras. Que deu pela falta de filha, a mãe, a d. Teodora, cabelo despencando, gritou seus feios pressentimentos (não deixem a senhora esbracejar assim, correr na rua assim, parece desvairada?). Gente mas cadê Cecé? Celeste, era o seu grito em Muaná. A mãe se puxando os cabelos ,nos tamanhos gritos. Cecé não está no quintal? Não está na privada nem debaixo das bananeiras? Vejam debaixo das bananeiras. A mãe 62 pedia, a mãe suplicava. Debaixo das bananeiras. Me tragam, me procurem, me dêem conta de minha filha! Afogada? De repente um desgosto lhe contaram? uma verdade? No rio, caiu? D. Teodora corre, saltou, tropeçou, descadeirou-se nas raízes, acudiu a benzedeira, d. Teodora carregada para o sobrado, parecia mais uma culpada, será? La se acorda o namorado — no baile, por via do pé mordido pela aranha, não foi — acorda com aquele bababá de madrugada na porta: Cecé não está aí? Me dá minha filha, demonio! Desce um raio no rapaz: não sou coió, D. Teodora, agora sou eu que lhe quero cobrar, d. Teodora, me de conta da Cecé, d. Teodora. E veio para o meio do largo, aquele rapaz andando de um pé só e atrás a família dele, as empregadas, um macaco saltando, alguém abriu o cercado dos carneiros do Intendente e o rebanho cobriu à largo, berrando, com os meninos na torre para bater os sinos. E o formigueiro correndo, e as famílias na rua, nas janelas, na beirada, pelo rio já procuravam, tarde piaste, como dizia o Major Alberto. Cecé, Celeste, sumiu-se.
Correu que boiava, toda de branco, na maré; balançava, enforcada, no galho do cajueiro, os malefícios da noite haviam puxado a Celeste mas aonde? O rio cobriu-se de fachos e lamparinas, o mato vizinho, quintais, os atalhos espessos, galos saltando dos poleiros; as moças do baile sarapantavam na madrugada. Teve uma que de repente resmungou para si mesma: era para fugirmos todas, todas! E chorou que chorou, a mãe acudiu lhe pedindo que não, Cecé havia de voltar, aparecer sim, se Deus quiser. E foi então que a moça, tirando os sapatos, saltou gritou: Deus? Bem longe é que Deus quer que ela esteja, isto, sim. Deus favoreceu, que a mim também me ajude. A pena que ela não que avisasse. Eu, esta, também ia, ora!
O pai, que ouviu, irou-se, surrou que surrou a filha e esta, mordendo os beiços, mordendo os gritos, apanhava muda, rasgou-se o vestido e a meia nua trepou no jirau, o chicote do pai cortando-lhe a anca, os seios, ao clarão do candeeiro que a mãe, pedindo socorro, suspendia, e viu a moça na lama, a moça rolou entre os porcos, tirada das iras do pai, arrastada para a beira do poço onde um agitado tio lhe atirava baldes d’água e com um tão estranho 63 olhar que a mãe correu, cobriu a nudez da filha, afastou mais que depressa aquele tio, a moça, esfolada, surdamente repetia: a noite era nossa, de nós todas, o vapor nosso. E assim, sangrando, inchada, inchando-lhe um ódio, que ainda fedia a lama, saboreou vingança, desesperadamente feliz de ter dito aquilo e visto na praça, no trapiche, defronte das Oliveiras, aquelas primas em desalinho, aquelas famílias ali na rua, de anágua, as bundas transparentes, despidas ao olhar do mundo, toda a sociedade muanense de vergonha no chão, rasa, com a Cecé indo se embora, embora, ah inveja! Meu Deus, merda! merda! que estou ainda aqui, tinha de bater asas como Cecé, no «Trombetas», vem me buscar, navio. A Areinha, então, se vingava? De cara no pó, na calçada do Mercado, o namorado da Cecé amarrava e desamarrava o pano no pé esfolado. A moça em carne viva da surra do pai, sossegava nas folhas de bananeira. Ou sonhava, desmaiada, que ia embora no «Trombetas? As donzelas do Muaná, acesas, queriam ir. Pediam um vapor. De repente dobrou o sino, foguetes, tiros de espingarda. Por pasmo, raivas, regozijo, quem sabia? O rio num fogo por causa daquela pescaria no amanhecer atrás dum peixe que nadava noutras águas. No sobrado de azulejos, d. Teodora num rouco desvario, entre o marido, o Juiz, o Coletor Federal e esposa, se prostrava diante dos santos no oratório, muita vela acesa, e logo lá fora, um chamado, as vozes repetidas. «D. Teodora, depressa! De pijama, ao relento, colando o emplasto na cabeça, estava o Intendente, já sabedor de que Cecé foi vista mais que depressa entrando no camarote do comandante, o navio largando a prancha, a banda de música na ponte, bonito baile, pena não ir até o dia raiar, os adeuses, tocou um dobrado, o «Trombetas» apitava, lá se foi Celeste, a pessoa, a testemunha, contava. E todos pensavam que tinha fugido com o namorado. Este, de fazer dó o panema, a cara no chão, entre os que procuravam a perdida, a perdida longe no vapor «Trombetas». Até correu que as famílias da Celeste e do Antônio Emiliano, tão contrárias ao namoro, tinham, na véspera, chegado a uma harmonia, que paixão entre rapaz e moça, era loucura contrariar, bastavam os anos, já, de tanta contrariedade. Mas mesmo sabendo da completa inocência do Antoninho Emiliano, que nem no baile 64 foi, a família da Celeste atirou culpa no rapaz, na família dele, por simples atirar culpa, se desengasgar da vergonha. alguém de imediato tinham que culpar. Ignoravam ainda o relatório, este de boca, proclamado pelo seu Eusébio, o trapicheiro, ao Coronel Amoedo, o Intendente. As duas famílias rivais reacenderam a velha rixa, se batiam de língua no meio do largo das mangueiras, juntou gente cada vez mais, precisou o Coronel Amoedo, à luz dum castiçal dourado e com os cachorros latindo, puxar as suas sedas, soltar a verdade às partes litigiosas, bugalhos! como dizia o seu Alberto. Pois há quantos anos aquela paixão entre Cecé e Antônio, perseguidos, a moça apanhando de vassoura de açaí, mandada pra Belém, a família joga o desobediente no quartel de Óbidos, e assim neste vaivém, os dois pegados sempre, cada vez mais um do outro, de muito povo rezar que aquilo bom termo tivesse, os dois casassem por mão do juiz, caso não, se adiantassem, entornando o caldo, descendo nela o Divino Espírito Santo. E quando cansadas já estavam as famílias, rendidas àquele desvario, lá entornou o caldo a apaixonada, mas com outro, na rede do comandante do «Trombetas», atirada nos rumos do não se sabe até aonde e até quando, o Alto Amazonas. essas tão tamanhas lonjuras, estirões que só o Demo podia medir, esticar, subindo o Purus, ou Alto Acre, Juruá, a Celeste voando.
D. Amélia chama o filho, os beijus quentes alvejam no xarão, repete-se o café. No recordar as passagens contadas por Dorotéia, d. Amélia até sentia-se aliviada, alívio de tantas coisas de si mesma... Dorotéia bordava fino o acontecimento.
Servia a mesa no salão de bordo. O pudim que fez, o comandante provou, aprovou, chamou um marujo: traga para a d. Dorotéia uma caixa de sabonete. Àquele homem de aliança no dedo se podia confiar uma filha. Que era de seus agaloados uniformes, navegante daqueles oceanos do Amazonas, que nem um oficial de Marinha em cerimonia da batalha do Riachuelo, a Dorotéia afiançava. Pois Dorotéia viu foi quando o comandante apanha a dama que ia entrando a bordo, ela chegava de ar virado? Antes, durante o baile, e nem parecia derretida para o lado do comandante, 65 até de parecença triste, dançar, dançava sempre. chá de cadeira não tomava, mas fazendo que estava ali obrigada, o esprito junto do Antonino, este em casa com o pé doendo. Dorotéia tirou uma linha do par que valsava; mal apanhou a dama na entrada do vapor, o comandante com ela sabia voar, a menina num pião, me digam o que soprava o cavalheiro no ouvido dela, ninguém não diz, que era que o Satanás mandava dizer? O comandante bisava a valsa, toca valsa em cima de valsa, o mesmo par, dançaram as doze valsas? Assim a Dorotéia estoriou e dizia: ai está a Maria Inês que não me deixa mentir, ela me ajudava nos doces; ali o compadre Teotônio que tocava, ele não tocava com os olhos, tocava? Os olhos dele dum fiscal. Que eu não tenha salvação, se não vi aquele bigode roçando a testa da menina, da entristecida, ou mundiada; que deu nela em terra para voltar assim a bordo? juro a vocês que um calafrio me deu. Daquele facilitar, foi, fugiu, no sopro da valsa. Mas eu agora cismo: aquilo bem que já vinha de muito tempo, das viagens do «Trombetas» das boas etiquetas, aquele foi um cálculo do comandante, as núpcias... A sorte? A sina da aranha ferrar o pé do Antonino? Mas eu tenho que a Cecé quando voltou de terra, vinha mal guiada, o rosto na valsa se acusava, que foi que pegou na moça que fez abrir o seu abismo? Ou desta vez o boto vinha num navio, de capitão, deu baile a bordo, carregou a moça família? Arre, que os brancos saibam, o risco que tem para donzela pobre tem também pra donzela branca.
Dorotéia, por ter visto, estoriava comprido, até de se reclamar: encurta a língua, imaginosa. Celeste quis navegar? Fizesse boa viagem. Mas Deus livrasse as moças pobres daquela navegação.
D. Amélia saboreava as lembranças. Oh famílias! dizia a Dorotéia. Mexessem por dentro delas, estas do Muaná, aquelas de Belém, eu bem que sei, vejo, estou na cozinha, mexesse, só no destampar, fedia.
D. Cecé louvou os beijus tão bons.
— Tu, Amélia, em tudo que pões a mão, se sabe.
D. Amélia, agora na cozinha, servia os periquitos: esta aqui, eu, esta aqui, sua senhora-dona, anda escaldada... Não vem de ora pro nobis pro meu lado, que eu conheço a ladainha.
66 Mas d. Cecé lhe passou a mão pelas costas num bom modo:
— Hein, Amélia, e o teu cavalheiro? Onde teu filho está parando agora na cidade? Qual a casa? Tu queres, eu agasalho ele lá na minha, está no teu querer, afinal é casa dum parente, tu resolves, rapariga. Não, tio Alberto? Passa por lá em casa, que a gente ajusta, até amanhã, Amélia, bença, tio Alberto? Vamos, Leônidas.
— Ah mas vamos dar um pulo lá na Amélia, Leônidas?
— Me tiraste a palavra da boca, rapariga. Lá eu ia.
D. Cecé deu o seu risinho. As barracas, dum lado e outro, medrosas atrás de touceiras, jiraus de plantas, quaradores de roupa.
— A Amélia na Cachoeira sempre se faz de senhora dona. Aqui é a Amelinha filha do seu Bibiano. Tira a chinela do pé. Ou é o contrário? Lá é a cozinheira perante a sociedade e aqui é a madame que vem passar a festa no meio do povinho da Areinha? Que tu acha, Leônidas?
— Numa e noutra casa, é a mesma, Cecé. Amélia não muda.
41 — Até me parece que róis uma simpatia pela preta... hum. Leônidas, não precisa fechar a cara, eu maldei? Simpatia. eu disse. E em que ela não muda? É a de lá, e a de que cá? Muda em que? Pois eu tenho três mudanças, Leônidas, fechado. A irmã tentava emendar-se, tinha brincado; ter simpatia era então alguma maldade? Bem sabia do respeito dele pelo tio.
— E o meu respeito pela Amélia, Cecé?
Entraram no terreiro do velho Bibiano, surpreendendo o Major justamente a mexer o torrador. Enquanto consentia numa vaga benção aos sobrinhos, D. Amélia chegava dos fundos carregada de pimenta. Tomou-lhe a colher de pau. já a d. Cecé, o rosto em cima do torrador, aspirou, louvando «aquele tão bom aroma de café». Canela, tinha? Punha açúcar na hora de torrar? Mas o Major no seu psiu-psiu-psiu, pedindo a atenção, lamenta que Muaná não produzisse o seu café, ao menos para o gasto de casa, terras não tinha? Que lhe dessem um capital, iam ver, bastava aquele terreno das filhas, era ao que ia dedicar-se, ao café. Geral calamidade havia sido mesmo o seringal. Tirou o povo das roças. Fez foi virar capoeira os triviais mandiocais do Pará, um milho, um feijão, pois lavoura se tinha pouco, já havia. Agora, por falta de hábito, e porque não dava a bolama fácil, ou na fiúza de borracha subir, ninguém plantava. ninguém criava? E o Pará tinha sido o primeiro plantador de café. Mas se não pudesse competir com São Paulo, no café, com a Bahia no cacau. Ou criar pato, criar ganso, por que não? Tanto igarapé, tanta alimentação na própria maré para sustentar uma boa pataria, os bandos de gansos. Porém quem podia criar ganso, plantar cacau? Esses que tinham com o que, outras coisas não faziam senão «as políticas», como dizia o velho Bibiano.
— Pobre cria um pato e não cem. Ganso? Já viu um ganso?
Que boiou do folharal, Alfredo apanha a palavra: ganso. Criar ganso? Como o do seu padrinho Barbosa? Gansos em quantidade? Depenar o bicho, comer de forno, de cabidela, no arroz? Na casa do Largo da Trindade, tão fechada quanto muda, o ganso era irmão do gramofone, da caixinha de música e do colégio perdido. Vivia 42 gras|nando que o padrinho estava pobre-pobre-pobre e o queijo que comia na mão do padrinho não tinha mais, O ganso, aquele, tão encardido, era que nem um semelhante, uma gente, um da família. Comer ganso, não.
A Alfredo não escapou o aceno de d. Celeste para a mãe, pedindo para irem as duas lá dentro, no quarto. Que tinha a dona para contar à mãe longe do ouvido do pai, das pessoas ali presentes?
Fazendo que andava à toa, se aproximou da porta, um ventinho suspendeu poeira, mexeu no oratório os ramos secos. Alfredo fazia que assobiava. O retratinho da mãe, na parede, ralhar com ele parecia. As duas num particular que nunca acabava? Pelo que ouvia, d. Cecé não desdenhava de se empoar na barraca, se empoava. E pela porta entreaberta viu: a figura de d. Cecé no espelho; até que se espantou, surpreendido, como quem diz: oh como não vi esse rosto antes? E escutava:
— Mas me deu... eu não ri por ser meu tio, ah, Amélia, o velho mexendo no torrador, a mão branquinha na colher preta, tu mesma, hein, sua esperta? Depois falam por aí que tu não passa de uma cozinheira do Major, que ele te põe no fogão, eu que veja...
Alfredo não via o rosto da mãe nem agora o da d. Cecé. A mãe sacudia o pano, ou a saia, e bico,
— Boa patroa é que estás sendo, rapariga. Tola não sejas. Ah, se as filhas vissem o pai no torrador, era uma fotografia... Coisa que ele não fez, nunca fez, nem no tempo da finada, lá. Nem sabe a cor daquela cozinha.
A cor? Lá da cozinha, das irmãs, a casa do viúvo? Concordava. Alfredo rondando, bebe água do pote, enxota o vunvum, tarrafeava a conversa, puxando para a sua doída curiosidade aquele peixe entre a mãe e a d. Cecé. A cor da cozinha? Ele mesmo, Alfredo, um abelhudo de cozinha alheia, também não sabia. A bem dizer as irmãs fechavam a estranhos a passagem para o fogão. Fogão misterioso ao pé da parede, o teto baixo, muito baixo em comparação com o resto do corpo da casa. Esta com três níveis de soalho. O da sala e porta de corredor, o da alcova, os dois quartos, a varandinha onde se comia, e o da cozinha, descendo-se a esta, toda de chão, por um degrau. 43 De quantas bocas o fogão? Chaminé; isto, tinha, um charuto no telhado. Tempo que o chalé não tinha o seu, Alfredo, invejava o chaminé do Muaná. Mas foi um dia que a mãe chamou o velho pedreiro e com pouco subia telhado acima o chaminé do chalé, oh alegria o fumo saindo, comparado as casas da Europa. Aqui no quintal das irmãs, o limoeiro velho tão da casa era, que nem uma criatura. A sombra das mangueiras descia sobre o chaminé. Natércia, varria, sempre, o quintal palmo a palmo devagar até tudo ficar muito limpinho era ver um soalho. Mas a cor? quem sabia? No galho da cueira, as galinhas bem dormindo ao relento ou nas suas conversas, o galo de vez em quando ralhando. Sentinelas com suas cometas curtas, guardavam os camarões do jirau ou mesmo uns miúdos de uma do poleiro que o Major, para contrariedade e raiva da filha mais velha, de surpresa apetitava. Matar uma galinha? Natércia abafava o seu horror, as aves faziam parte da família, morriam de velhas, a Amélia no chalé acostumou o velho a comer as criaturas, O pai nem sabia dessas criações, ele tão entendido em avicultura; ex-assinante da «Chácaras e Quintais», sempre relia a velha coleção e o «Como fiquei rico criando galinhas», contemplando nas fotografias da «La Hacienda» as alturas de ovos que as galinhas botavam nos Estados Unidos. No chalé, ao pé do fogão (a d. Amélia fritando as postas de mandubé, a por de molho a bacaba no alguidar grande) doutrinava o Major sobre galinha. No quintal, que aos fundos servia também de curral, hoje vazio — por onde tu andas, vaca Merência? — lama e água cobriam quase tudo em tempo de chuva; no tempo seco, dava muita formiga e pulga e gogo e faltava milho, mas o Major cadê que desistia? Aves de raça que comprou? não foi nem uma nem duas. E ovos Leghorn, dúzias, sim, e tão caros! E assim anos, até galinha de raça espanhola. E o pouco que se salvava da criação, a d. Amélia trazia para a cozinha e despensa, era um piupiu embaixo do prelinho Dido, os pintinhos pela casa toda, uns na rede com Maninha e aquele tão goguento, posto dentro do oratório, com esta recomendação:
— Me curem o gogo deste menino, ouviram, seus santos? Senão, senão...
44 Aqui Alfredo, no seu pensamento atalhou: Maria de Nazaré. Que será de Maninha debaixo daqueles sete palmos de mil metros de fundura? Ficou por isso mesmo, morreu morreu? Se desfez tudo? A voz, a impaciência (quero-quero crescer já-já, quero que mamãe me faça um vestido de moça), seu amor aos pintinhos, a compaixão pelos peixinhos, o medo da febre, seu tão cedo sofrimento? O silêncio a que foi obrigada, para sempre? Um escuro tudo aquilo, sem um vaga-lume, nem um? E sobre os sete palmos aquelas cinzas da borboleta queimada lá na dispensa, ah, borboleta, a morte de Maninha te marcou aqui, a tua figura, sempre. E dos anjos o avo dava a certeza? Anjo, anjo, um faz-de-conta do catecismo e das velhas? Assunto dos cânticos do mês de Maria? D. Inácia, a gorda madrinha mãe, quando falava aos seus passarinhos do fundo da casa. amaciava a voz, a mão estendida: venham cá, meus anjinhos, me tragam no bico a inocência e depositem nesta mão. E logo, num ronco surdo: canalhas! E o avo com o seu espírito? Espírito de Mariinha valia mais. Espírito ia lá em cima e as restantes letras caíam, coitadas, fofas, no chão. Em espírito, todas as letras eram. Mas Mariinha, por um acaso, a fumacinha dela não se escapava por entre aquela tanta quantidade de terra, o ar, ou que fosse, a miragem, o fantasminha mal-a-mal o simples vôo, o ruflar de sua aparição? Não, não. Tudo aqui é esta saudade dela, a ferida que ela abriu indo se embora, este simples pensar e ver os pintos no seu colo, o pintinho no oratório, até que os peixinhos lá do fundo bem que entendiam ela; um, não peixe, um sabia que sim: o velho e errante jacaré escutava de Mariinha aqueles chamados que recolhia, levava consigo, sonolento e cego, por essas funduras de balcedo e noite, a voz de Maninha, esta voz, entupida de terra lá no Teso ,e aqui tão perto, tão saindo do irmão:
— Curem o gogo do meu filhinho, senão senão...
E quando foi o grito de Mariinha ao ver os pintinhos se precipitando escada abaixo tibungo! dentro d’água? No galinheiro, deu mucura, contavam que também sucuriju; por fim se esvaziou de vez o galinheiro, virou pavilhão de meninas da vizinhança, no verão, e teve aquela, que comia manga verde, crescida levando Alfredo para debaixo dos poleiros — Alfredo, faz-de-conta que a gente se casou. 45 Marido e mulher, vamos? — e quando viram, lá em cima, no caibro, papo tufado, amarelona, braba, pronta para surrar os dois, uma cobra cutimbóia. Alfredo que se esquecia? Comia pinto a cobra? Que não envenenava, se sabia, surrava, jantava as venenosas, agora dona do galinheiro. Foi um pouco antes de aparecer a Andreza.
Entretanto no Muaná, um chão enxuto-enxuto, o Major nem via o quintal e das galinhas empoeiradas na cuieira petiscava uma e outra durante a festa de dezembro, por uma condescendência, um milagre das moças Coimbras. E eram galinhas da terra, feiosas, que as moças criavam, As moças Coimbras desdenhavam um pouco, ou invejosas, lá do chalé pelas informações que recebiam sobre galinha e depois troçando das Orpington, as Minorcas, as Rhodes entre tratados de galinocultura e os desenganos de d. Amélia, esta mais cozinheira de galinha que criadeira.
No Muaná, o Major se desfazia de suas artes, para ser só o viúvo, o pai servido pelas filhas, uma e outra vez que lia era catálogo ou a Seleta Clássica sempre abrindo na Última Corrida de Touros em Salvaterra. Nessa última temporada, o Major saía mais de seus cômodos para espiar, boquinha da noite, a foguetaria do irmão, pegada aos fundos do quintal e onde o mano, braço torado numa explosão, punha a família toda a amarrar foguetes. O Major passava os olhos na fabricação, sempre advertia contra os descuidos, aquela pólvora ali exposta — olha... olha... — achava que o irmão assim acabaria perdendo o outro braço, senão a cabeça, depois aqui d’el rei, aqui d’el rei... Era exato que, na arte de fogueteiro, se sentia superior ao mano; em fogos fazia fino, lá estava na estante o seu opúsculo sobre pirotecnia que escreveu e imprimiu no Dido; química sabia umas doses e não era em vão que consultava catálogos e volumes portugueses sobre a arte. O irmão ficava no trivial. O pouco que queimava de artifício no arraial em dezembro era sob as vistas do Major, e todos de Muaná sabiam, pois o Major, ali no município, também de Mestre Alberto era chamado.
Mas do fogão de casa, em Muaná o pai mesmo nunca soube, Alfredo via. As moças iam e vinham, ao pé do poço, enchiam, fechavam e abriam a cancela da cozinha e sempre baixo falando, mais por sinais e mexer de boca, 46 uma voz, a delas, afinada naquele calor das trempes, ao embalo da ceguinha na alcova, não falavam, segredavam. Na varanda, à mesa, era o pai e a ceguinha, e o Alfredo, quando este aparecia, nem sempre. As duas, com seus aventais, ficavam na porta da cozinha, ar de copeiras, arrepiando a sobrancelha, mexendo as pestanas, como estivessem explicando: este é o nosso voto, o avental é nosso hábito neste convento. Via-se da janela da varanda o portão do quintal e a rua, atravessando o campo, na direção de Areinha. Dali as duas irmãs podiam fiscalizar o vem e vai das pernas e cabeças de Areinha, no rumo do porto, da igreja ou do cemitério. Quantas vezes não apreciaram a Amélia vindo, naquele seu andar meio apressado de quem andou na cidade, mais vivo o seu pretume no sol; avaliavam o vestido, lhe imaginavam o sapato, os bereguendens, o quanto o chalé sabia tirar do viúvo, aquela parte subtraída da mesada para as filhas. O que ali Amélia vestia, calçava, a elas fazia falta, não esqueciam; nenhuma das moças Coimbras nasceu na Maternidade, elas geradas na lei, filhas de matrimônio. A preta, olhem o luxo, descansou em Belém na mão de doutor, pensionista. Mas nem por isso a Amélia esfolava. Fosse outra, adeus filhas dele, nunca mais viúvo.
E as quantas pessoas que acompanhavam a Amélia no caminho da Areinha? Nunca aparecia só, também nunca ao lado do Major, as moças Coimbras atestavam, Não tinham do que falar: Amélia não exibia. Não queriam ver nisso um orgulho da preta mas um cuidado, conhecendo o seu lugar. Ou por que o pai ditou? Não, ninguém ditava para Amélia. Nunca viram nunca souberam que em Belém sim, Amélia e o Major, era juntos em toda parte, Teatro da Paz, Bosque, Museu, revista de arraial de Nazaré, juntos, e. como viu a Mãe Ciana, até de braço dado. Mas isso, há anos. Nunca mais foram juntos a Belém, E desse tempo Alfredo sentia inveja, ciúme, saudade, um miúdo ressentimento que metia no caroço de tucumã, e dentro do faz-de-conta voltavam os dois a Belém, acompanhava a mãe e o pai, Belém pelo direito e avesso, os três juntos.
A Areinha apreciava esse retraimento da Amélia, bem sossegada na sombra, sempre atrás da igreja quando o Major na frente estava, entre as autoridades, entre as 47 famílias. A Areinha via nisso um orgulho de Amélia e de que também seu povo se orgulhava, tinham um respeito, se admiravam, diziam: assim é, muito que bem. Alguns velhos, e velhas, viam mesmo nessa ligação tão recatada uma boa sina, um sinal de Deus para punir os brancos e exaltar os pretos e fazer das duas raças e das condições de uma e de outra uma harmonia, o casamento, não na igreja, não no juiz, mas nos altos desígnios, entre um Major de pura brancura e uma lavadeira de puro escurume. Em tudo isso Alfredo estava, a custo decifrando e o certo é que sua mãe na Areinha era vista um pouco numa altura, lá na janela do chalé. Havia por esse fato na Areinha um geral silencioso humilde regozijo e uma secreta vingança contra os Coimbras, as Oliveiras e demais sociedade. Mas Alfredo tremia ao pensar que, cedo ou tarde, a Areinha tão ancha de d. Amélia, ia saber o que se passava no chalé, aquela bruxaria das garrafas. Talvez fosse até melhor chamar um, chamar outro, ir avisando e fizesse que a Areinha, por força de oração, duns cozimentos, umas bruzundangas, uma qualquer ação, curasse a mãe. Mas cadê para dar esse aviso? Se a mãe viesse a saber? Ferir a mãe, não. Ah mas sabia que a Areinha, aquela, que festejou a mãe, bastaria saber logo acudiria, sim, o que não faziam para sarar a mãe, não deixar que ninguém dos brancos viesse quebrar a castanha na boca dos pretos, morenos, tisnados, curibocas, sararás de Areinha. E se quando soubesse já fosse tão tarde?
Aqui voltou Alfredo à conversa de d. Cecé. Da cozinha o Major nem a cor sabia? Possível. E Alfredo maginava: não tinha bisbilhotado bem-bem a casa das irmãs.
D. Cecé, falando do pai e da cozinha, lhe atiçava a curiosidade para agora estudar mais o corpo da moradia, ver melhor a alcova onde a ceguinha embalava a sua escuridão com aquela telha de vidro escorrendo pelos punhos da rede. Abrir aquele quarto, ou dispensa, onde se aninhavam os teréns antigos e mortos da família. Estava ali o casco do encouraçado «Minas Gerais» de cartão e papelão feito pelo Eutanásio? E a armação do aeroplano, cor de rosa, rabo azulino, que o mesmo Eutanásio empinou? Ficou aí o Eutanásio que não foi? Ali decerto, quando o velho regressava a Cachoeira, a viuvez recolhia-se?
48 Receoso, não retirou a tranca do quarto. E me dá o nome deste teu cheiro, casa. Das irmãs, não era, ou então de seus amuos e aventais, de seus ferrolhos, um bolor de solidão, aquele nariz torcido para o mundo. Também elas deixavam trancado o seu melhor naquele quarto? Idosas não eram não. A ceguinha, fosse ver, uns vinte anos que pareciam quinze, ou não contava tempo em certas horas tão menina como em outras tão pura imagem. Natércia, sim, via-se, dobrava o cabo mas desse envelhecer que chega e pão chia e quase nunca chega. Leitícia, nesta irmã, Alfredo se admirava: os cabelos, depois do banho, ela trazia derramados, enxugando; faziam de Leitícia uma freira de longo véu cheirando a sabonete e que lhe amorenava o rosto pálido, os beiços um tanto castanhos. Mas penteassem aquele véu na moda, podia ou não figurar entre as mais bem parecidas do Muaná, de Cachoeira, até mesmo de Belém, por exemplo numa das janelas da Estrada de Nazaré? Bastaria se desencaramujar um pouquinho, desentristecer o semblante. Tirar do juízo de que já deu o tiro, pois nem gordona como a d. Emília Alcântara, de apreciável cintura bem era. Uma e outra vez, ao lhe sentir o sorriso desiludido, Alfredo reinou de lhe dizer: Ora, Leitícia, não te encoruja, te tira desse teu avental. desenrabuja, vamos no arraial dar um giro, rodar com as moças em volta do coreto onde a banda toca; mamãe te talha um vestido, te empoa, te penteia, te aperta a cintura; mamãe mesmo dizia no chalé: se aquela pirrônica saísse do seu caramujo, deixasse, eu então não preparava ela, não entonava? Num átimo, fosse prum baile, missa ou seu casamento. É verdade que a mãe dizia, indo e vindo da dispensa onde dentro da garrafa o diabo borbulhava.
Alfredo fecha os olhos, num travo em que se sente arrepiadinho como se fosse sinal de febre. Sombra da nhá Lucíola? Lucíola, pelo reino das almas, deixa de me perseguir, me deixe crescer, sim, que quero logo.
Foi dizer isto, se arrependeu: estava sendo, mais uma vez, muito mal agradecido para com aquela que sempre um bem de mãe lhe quis. Pelo muito que tanto sofreu, a pobre devia estar... Preferia aqui juntinho dele, sem voz, para lhe dizer: Alfredo, paciência que tu cresce. A Deus peço.
49 Assim em boa paz, sim, podia, mas nunca em forma de visagem, sempre invisível ficasse, nem a voz queria. Por que disse o não a Edmundo Meneses? Como explicar o três vezes «não» aqui de novo soando, um «não» que vem nos sonhos, no mesmo vento que leva o búfalo com o homem em cima para as fazendas do fundo? O além é aqui mesmo, dizia o avo, podiam confirmar? O pai, que opinião tinha? O além de Lucíola, sou eu então, eras! Mas eu assim ofendo a sua alma, e indagando do seu «não», por força ela pode vir me responder, não quero.
Mas Leitícia não era Lucíola, e que fazer com esta irmã que se demitia de moça? Maninha, já daquele tamaninho, era um fogo de passar por moça, se enfeitar tão cedo, a faceirice, coitadinha. E Leitícia, vejam, tamanha mulher, fôlego para viver, ali de pura vontade se desbotando. Tão aveludada no falar, no dar a mão, estender a toalha, mexer o beiço, no fazer o prato da ceguinha. Os olhos, retintos, eram até dados, falavam por si mesmos mais que a dona, de um querer dar e ter um agrado e o beiço a dizer não, querer rir, querer olhar, curioso do que ninguém via, e o dente a morder o beiço. Sim, que debaixo daquele veludo ia um gênio! Ouvissem as surdas brigas em casa. os ralhos contra a ceguinha, o rem-rem contra cachorro, o periquito, como se nestes encarnasse a gente que ela desqueria, desprezava, de só ver cuspir. Os aventais tomavam conta de Natércia e Leitícia. Vedavam a casa e delas era também aquela fumacinha saindo do chaminé do telhado que Alfredo espiava do quintal, ao pé do limoeiro, sendo que este, por sua velhice e bom limão, merecia das duas um especial carinho. Leitícia bem que se entendia com ele, o limoeiro era a farmácia delas, dos vizinhos, nas doenças de garganta, rouquidões, caldos de peixe; limoeiro e elas tinham um bom parentesco.
Alfredo voou para dentro da barraca. Queria definição daquele conferenciar tão demorado entre a mãe e a Cecé, Que a mãe conversasse com a Dorotéia pela madrugada, agora por já terem conversado, tinha a sua explicação, ambos do mesmo sangue, não se viam anos... Mas com a d. Cecé?
50 De oiça afinada, até que perguntou ao coqueirinho o que nunca crescia: mas a d. Cecé? Qual dá duas se confessava?
D. Amélia escutou a d. Cecé até com uma certa agradável surpresa. Logo se meteu na concha, não soubesse ela que a d. Cecé, fosse aqui, céu e inferno, era sempre uma Oliveira. Quem mais mal falou da cozinheira do Major senão as Oliveiras? Sabia aquelas línguas, os teus agrados dos dentes pra fora, te oiço e me guardo, boca cheirava, coração fedia, quem te conhece que te compre, senhora dona Celeste.
Alfredo afia o ouvido na brecha da parede, as duas ainda no quarto. Por que de supetão a mãe se sai dizendo que seu Alberto em matéria de tempero tem dois gostos. um no Muaná, outro em Cachoeira?
— Aqui é o gosto de viúvo. Lá é do... Eras. Me deixa calar,
Isso desagradou o filho. Se deu conta que a mãe ria e ele também aqui fora, descolocando-se da brecha e fugindo se pôs a rir, a rir dela, sem deixar de se agradar com o repentino tamanho riso da mãe, solto pelo terreiro, cantando. Mas rir, ele, por que? Como se estivesse rindo dos papéis dela em Cachoeira, desenrolhando o diabo da garrafa? No chalé, a mãe, embrabecida, saindo da dispensa escura, dizia alto que seu Alberto em Muaná comia na comida o cominho da prateleira do seu Aguiar. que as filhas lhe davam, comia sem um pio, ouviu? No chalé cominho era palavra riscada no dicionário da cozinha. Os luxos do seu Major, do Secretário, era só no chalé. Em Muaná, tome cominho. Entenda-se! Entenda-se!
Ah, sim, Alfredo ria: a casa das irmãs estava naquele gosto de cominho com que elas temperavam o cozido, o molho do camarão frito e os seus arredios. Cominho havia naquela surda antipatia delas pelas moças de Muaná todas no trapiche ao chegar o gaiola da linha; no gostinho tão compadecido de saber o que ia de mal na casa do juiz, do Intendente, da professora. Cominho havia no mexer do nariz, no espalmar as mãos no ar para tão fingido se 51 prote|gerem do fuxico que entrava pela porta, zumbindo. Com o zumbidinho nas orelhas, o esbugalhado olhar, faziam parte: não, não nos venham com novidade, conversa aqui o demonio leva, vai te embora, maribondo. Piscavam uma com outra, o nariz ávido e nas meias palavras, os bagos dos olhos reluziam. Sumiam num resmungo para a cozinha. atiçando, sem ser preciso, mais fogo no fogão. Quando era grave o caso alheio, Natércia fazia um ar de pena assombrada, depois zombeteira, de consternado regozijo, enquanto a Leitícia sorria que sorria nos olhos, o beiço inquieto, o dedo belisca, puxa, alisa a gola da blusa, não se sabendo se sorria da novidade ou da excitação da irmã em temperar e saborear aquele bom prato do mal alheio. Dentro da alcova, impaciente, resmungona, os esses da rede gemendo no embalo apressado, a ceguinha queria porque queria saber. E assim com isso e mais o cominho, temperavam o jantar do pai.
Contra semelhante cominho, a mãe não tinha direito de soltar as suas? Quando em seu juízo, garrafa seca atrás do armário e nenhuma chegando na mão de menino, a mãe falavazinho por falar, meio se aborrecendo logo na mansa zombaria com seu Alberto, este tão obediente aos velhos modos de Muaná. Em Muaná, tinha de engolir caladinho as comidas de viúvo, era da regra social, ter de cumprir o testemunho do casório civil e ao pé do altar. Cominho! Pimenta do reino! Temperos mofados, de lata, do velho estoque tempos da borracha. No chalé, ou era água e sal, ou temperado fino. Acrescente o cuento sic verde, a alfavaca da horta, a chicória trazida pela comadre Porcina, os molhos na hora, o fogo das malaguetas, o queima-beiço das pimentas de cheiro, estas amarelinhas, queimosas de no olho arder. Seu Alberto? Fora do temperado fino ou da água e sal, passava de largo. Era ir pro Muaná, comia o mofo, o bolor do balcão do seu Aguiar. Para tapar a boca da Amélia, quando esta se punha a bater língua consoante ao cominho, seu Alberto rebocava o assunto para seus conhecimentos; então despejava em cima daquela ignorante de Areinha toda uma sabedoria em comeres e beberes. Dava-lhe livros, verdadeiros dicionários, verdadeiras bíblias de cozinhar e fazer doce e até que ela ia lendo com o pouco ou nada que sabia — ia adivinhando — de leitura 52 e definição daqueles nomes, palavras, receitas, explicações em efes e erres, tanta prosápia e suas finuras, uma nomeação tão estrangeira, ora, quando tudo ia para um só fim, que nem valia a pena estar lembrando, falasse a tua e a minha tripa. E seu Alberto lhe trazia no catálogo fogões de ferro, sublimes caçarolas, molhos em Conserva, terrinas da França e da Alemanha, falando de abades e demais comilões deste vale de lágrima e toucinho. E do cozinheiro da Corte de França que se matou por não ter levado à mesa o peixe para o Rei? Ah, era tanto caso de comedoria nos livros, tudo escrito nas letras de chumbo, aquelas das caixas de tipos do chalé. Tinham um valor, uma fantasia que aqui fora não tinha, aqui no comum do mundo neste sal grosso. Escrito nos livros tudo passava a valer mais, embora de verdadeiro mesmo só fosse aquela folhagem de bucho que metia no feijão com jerimum. Seu Alberto era das gramáticas, cobria de manjares a tão desprevenida mesa do chalé, onde o mais das vezes o que tinha: um picado e um arroz chorado ou chá com pão, Major fazia jorrar aqueles banquetes dos livros e das pinturas, minus de nome francês caindo que nem regalos do Imperador Carlos Magno e o que os Césares comiam. Ao vê-la com um pedaço de fígado fresco na mão, sangrando ainda, seu Alberto saía com esta: tu assim preta, rapariga, és o abutre com o fígado do homem. Seu Alberto doido! Fígado do homem! Já me virei então no curupira de dente verde viciado em comer fígado dos homens no mato, como estoria o Sebastião? Vá ver que é o dele, que dele um dia eu tiro mesmo, esse homem! Seu Alberto de tanto ler até que amolecia o miolo? E demais conversas, a palavra gastronomia, o nome francês dum comilão que comia desconforme, descomunal pança, que se via numa figura? «Os frades se empanturravam de Teologia e do bom leitão», Major abria a camisa, dava palmadinhas na alva barriga empinada:... ter água na boca por causa do Paraíso e do toucinho na brasa... Gula de Deus e do torresmo. Nada de comer gafanhoto.»
Mas d. Amélia, por indagações feitas, puxando pelo filho, sabia do regulamento das duas moças do Muaná: a comida rala, o medidinho, de se comer com palito. Aquela ração de passarinho no meio do prato? Não era 53 mesmo que passar a gafanhoto? E com cominho! Pois na casa de viúvo, debaixo da lei das filhas, o seu Major gafanhoteava.
Ouvindo-a falar assim, Alfredo sentiu uns tais e quais exageros da mãe. Ele contava, sim, para que encobrir? dum ar de escassidão que havia lá na casa das irmãs. Mas embora pouco, lá também se comia, isso ninguém podia negar, que ter, tinha. Que elas poupavam, de chegar recolher da toalha os bagos da farinha, rendiam o osso do meio quilinho de carne? Não dizia que não. Também comida de grilo, menos verdade. Vez por outra, sem aviso, só por opinioso, lhe dava de chegar na casa delas, hora-hora do jantar, o momento em que a Natércia, pela porta entreaberta da alcova, metia a cabeça na sala: Papai, na mesa. Dizia abafado, quase num segredo, num tom de quem já tivesse chamado tanto. O pai, nariz no catálogo, surdo, lá nas Alemanhas. Alfredo, ali, de repente, cara seca, tendo de ser convidado, acolhido entre sorrisinhos. Via no olhar de Natércia a faísca do desagrado, um arrepio pela testa ,sacudindo mais vezes o avental de saca de milho, como se lhe dissesse: Sabes se a comida dá? Aqui, se não mingua, também não sobra. E jantar é quando papai está. O mais que se janta nesta casa, nós sozinhas, é chá, uma e outra vez, com beiju cica. E já a outra, a Leitícia, trazia o prato, «te senta», mandava. Ele ia não querer, mas cedeu ao encanto de comer em casa alheia (inteiramente alheia?), à novidade do cominho e ao puro gosto de contrariar as duas. Natércia, ela mesma, servia aquela mal aparecido: «come, que tem, tem mais, mas come. Insistia. Alfredo se indagava: educação dela, dos dentes pra fora, opinião, era? «Come, mas come, deixa de cerimônia. Tira mais este». Ele escutava às avessas, ouvia ranger lá por dentro dela a contrariedade. O pai comia, calado, comia viúvo, tome cominho, entenda-se, entenda-se, dizia a mãe no chalé, Comia com este e aquele sorriso sobre o que pensava dos assuntos lá de fora, meio tentando abrir-se para as filhas, naquele jeito seu do chalé, procurando Amélia, aos psius, na horta, cozinha, pé do poço, da tina, do galinheiro, vendo-a de joelhos ,dobrada a varrer embaixo das caixas dos tipos, para dizer-lhe o que pensava da peregrinação à Terra Santa, o roubo da Gioconda em 54 Paris, estrume das vacas no canteiro de couve. Mas Natércia não se cansava: Come, aquele-menino. Rogo fingido? Recostava-se na janela da varanda, olho alto. nariz gavião, estalando os dedos, piscando; «come, que tem» era para dizer que ele, Alfredo, lhe havia papado a ração? E Alfredo corria os olhos pelas três irmãs. Leitícia, esta, inclinava o ombro numa risonha aprovação. A ceguinha, nariz no prato, fina e alva na sua redoma. De olhar nele, a Natércia, dizendo com a boca: come» e o olhar: «quem te mandou vir?» Que dizia mais, que dizia mais, minha Nossa Senhora, um olhar daquele, piscador? Acabei a ração, O meu jantar me espera lá na Areinha, não rejeito. A ceguinha. na sua redoma, por uma casualidade comia? Ou comungava?
De tudo isso, um pouco, Alfredo relatava à mãe, os mais sentimentos guardava. Mas gafanhoto, não.
E foi um dia, na Areinha, na hora da jantar, trazendo um prato tampado, Alfredo falou na mesa, muito sério:
— Tome, mamãe, se sirva. É um prato do papai lá.
— Lá?
A mãe, de cabeça inclinada, a mão suspensa, lá? Que destampou, fez foi um tal nojo, cuspiu, ralhou e logo os dentes de fora, aqueles seus que, sem ela mesmo rir, se riam por si, por todos nós.
— Mas, seu imaginoso, só queria era saber o que te passou pela cabeça. Pois dois gafanhotos com cominho, axi! Estou é a tua invenção. E onde tu foste desencavar cominho? Estou é a cabeça. Pois eu duvido, aposto, duvido tu levares lá, vai, a tua cabeça! A tua cabeça! Leve o teu quitute lá, te pago, se levares, levas?
E agora ria toda, todo o seu pretume, olhos, faces, colo. em que o filho deitou a cabeça, dado por pago, bastava a mãe rir, assim, sem aquele escuro lá da dispensa no chalé, ah, por que ela não ficava na Areinha, enquanto ele em Belém estudasse bem sossegado?
Mas levantou a cabeça, fugindo, tinha enfim feito aquilo para punir a língua da mãe. Pois apesar de comidinha de curió, aquele jantar das irmãs tinha o seu gosto, não era de se enjoar. A novidade do cominho e da pimenta do reino? Um calafrio bem lá por dentro lhe impedia de dizer alto na Areinha, no queixo da mãe: eu que até gosto 55 da comida lá delas, varia da do chalé, assim, por uns dias, um pulo, de repente, naquela janta. Isso ofendia a mãe?
Agora, no terreiro, entre a d. Celeste, o Major, o Leônidas e a d. Amélia, a conversa macia. D. Celeste, num assunto de ares para a saúde, achava que era bem natural o tio Alberto em Cachoeira ter outro paladar. Clima, água, o ar. Questão fina, essa, dos ares. Em Muaná, terreno firme, não sujeito a inundações, podiam as primas (ela dizia as «primas» com um jeito especial de agradar o Major, de lembrar que era da família) podiam as primas temperar..
— Não é, tio Alberto? Tio Alberto, o sr. não concorda?
A maliciosidade... observava a d. Amélia. Estalou a língua num muxoxo que se expressava assim: ah s’ coisa... e disse, por dizer, para encerrar o assunto num tom de quem conta uma estória:
— Assim são os cominhos e as pimentas do reino do Muaná.
Mas obscuramente entendia que aqueles temperos indicavam a barreira entre ela e as Coimbras, entre a casa das filhas do Major e o chalé do Alfredo.
Num outro assunto, a d. Celeste aproveitou para só falar bem do chalé. Apesar das águas. não havia leite, a verdura, os bons cuidados? Amélia se arrepiou: debique? «Não é uma cobra esta mulher?» E no silêncio, d. Celeste acenou para Alfredo, ali meio de lado:
— E esse teuzinho aí, Amélia? Dá?
Alfredo ergueu o rosto, arpoado; olhou para a mãe que sorria. De vários modos, D. Amélia decifrava a pergunta. Que afinal queria dizer a excelentíssima? Fazia pouco? Duvidando das aptidões dum filho natural, filho de uma da Areinha?
Fez com a cabeça que ia-se ver, ia-se ver .por dentro dizendo: Tu tem o teu, mulher, mulher, põe isto no juízo, e olha o que te sucedeu, tu mesmo não te emenda? Estás 56 certa de que o teu é menos cabeçudo que este meu? O teu? Sei que é o mimo, soube, o mimo em figura de gente. O mimo, que este meu não não tem tanto, o bastante que teve agradeça à finada Lucíola, este menino ela estragou um pouco, a coitada, mas por mim desculpo.
— Que o meu filho tem cabeça ou não, d. Cecé, é a sorte, é o estudo dele. Senão, paciência.
Alfredo pensava em d. Inácia Alcântara, a madrinha mãe: tem bem miolo, rapaz, que eu te faço um ladrão de sobrecasaca.
Não contente, d. Cecé apelou para o tio:
— Hein, meu tio, que o sr. acha? Este da Amélia. o estudante, vai?
Alfredo sentiu-se ovelha no leilão, escoou-se para atrás da casa. D. Amélia se impacientava. «Este da Amélia» Dá? Vai? Fale claro, minha senhora, diga o que sente, tire o que tem debaixo da língua.
O Major responde com um sorriso de «sei lá, sei lá», admitindo que menino de agora não era, como no seu tempo, que sabia de cor o catecismo, até a introdução da missa. Isto surpreendeu o Alfredo. O pai puxou foi um assunto só para mostrar o quanto sabia das artes do catolicismo? O Major imitava o padre, dizendo introibo, diante do altar, vai-não-vai, quem sou eu, eu quem sou eu, mea culpa... Alfredo avaliava aqueles fingimentos, tudo uma custosa cerimonia. Situba do boi bumbá «Garantido» não era assim? Devoção, da verdadeira, sem tais latins nem meximentos de corpo era aquela do tio Ezequiel, sem nenhuma mesura, ladainheiro puxado à sustância, ali duro no pé do oratório, mão espalmada no canto da boca; capaz dos santos, lá. ao conversarem: Vamos a ver o que a gente pode fazer por ele, não é um mau preto aquele filho do seu Bibiano.
Da missa o Major fez a sua representação no terreiro. O mais engraçado para Alfredo foi que o pai, nas vezes do padre, fazia de altar a mãe e a esta a d. Cecé piscava, piscava ao Alfredo e este: a mamãe bem que está encabulada. O Leônidas podia contar na vila, nas viagens; meu tio Alberto até de altar já faz aquela preta e na falta dum padre bem que o tio preenche,
Nisto que o Major acabou, o Leônidas se saiu:
57 — E lá de Cachoeira, Amélia, os meus fregueses? Pávulos do meu feitio?
— Tu nem queira saber, aquele-menino. Querem mandar intimação para cobrar os tamanhos prejuízos, o tanto teu estrago de pano. Andam assados. Aquilo que nunca que foi alfaiate. É um remenda saco, é o que falam. Põe, põe teu pé em Cachoeira e vê uma coisa, põe. Que val que tens esse teu tio, é o que val. Mas põe o pé lá. Te talham no cepo do mercado, com a tua própria tesoura, alfaiate do Pai Francisco.
D. Celeste riu. Mas d. Amélia não se enganava. No seu gracejo quis também ferir a irmã do alfaiate; sabia ao certo que uma Oliveira achava sempre demais aquelas liberdades partindo de uma preta. Para as Oliveiras, Leônidas devia se dar a mais respeito, não permitir tais brincadeiras; a pessoas assim, como a Amélia, bastava dar o pé...
Ao riso da d. Cecé, respondia a d. Amélia com o seu, largo, um pouco satisfeita, puro gracejo, sim, mas as Oliveiras consentiam?
— Não foi, seu Alberto, não é?
Pergunta que era um desafio, a exibição de mais uma intimidade, a exigir do Major um testemunho travesso, pondo o Secretário ao lado da sua cozinheira... D. Amélia achava uma graça, e d. Cecé, naturalmente, embora julgasse impróprio o gracejo, pensava apenas que o riso da preta era limpo de intenção. O Major sorria o seu consentimento. D. Amélia num prazer. Via na Oliveira o risinho azedo, obrigado, doendo. As Oliveiras não concebiam o alfaiate em Leônidas. No que dava não escutar conselho da família, a meter-se na boca do forno da padaria, ao pé da máquina do mestre Evaristo, tanto fez, tanto fez, que acabou fazendo massa, acabou cortando pano, desgarrado da casa, ontem padeiro, hoje alfaiate, amanhã de novo amassando fermento, errante por aí no mundo, esquecido do nome, da família... E aqui estava o Leônidas a ouvir da boca da filha de seu Bibiano que era alfaiate do Pai Francisco, do Cazumbá. Não por falta de boa cabeça, foi nascido prum banco de faculdade, ter uma carreira, fazendo proveito do nome de herança, sim, que as posses se 58 acaba|ram, o casarão da família as paredes do fundo iam-não-iam, a irmã, uma noite, doidou fugindo num vapor... D. Amélia deu outro riso, satisfeita. Leônidas igualava-se aos da Areinha e d. Celeste a ter que engolir, qual das Celestes? Aqui a d. Cecé é de Oliveira, figurando que passeia na Areinha e d. Celeste a ter que engolir, qual das Celestes? tem. A de bordo, quem foi, ninguém soube, depois que o casamento .botou a pedra em cima. E a outra de Belém, da Passagem Mac-Donald, a casa o rumo ninguém sabia. As Oliveiras! E este outro Oliveira, em vez de doutor, ao menos alfaiate no Recife, no Rio, descaminhou por estes rios, tesoura na mão, alfaiate de beira do mangue.
D. Amélia noutras liberdades fazia ver: aqui neste terreiro, minha senhora, todos somos iguais. A distância que vai do seu irmão a esta preta, que está rindo aqui. sem que a senhora saiba porque ri, existe dentro do. vosso velho sobrado, lá. Aqui, se despeça. Render homenagem? Em que é melhor que o meu irmão Antônio, o teu irmão Leônidas? Agüente a graça que o sal doa na ferida,
D. Cecé sorria sempre, abotoou a camisa do Major, queria falar uma coisa, não falou, olhando o chão, pensativa, Leônidas, este, satisfeito, apreciando a invenção da Amélia. O que ela dizia era ao contrário, sim. Poucos em Marajó, talhavam pano, fosse casimira inglesa, linho
H. J., igual a ele. Sua tesoura, em Muaná, Ilhas, essas serrarias, esses engenhos de cachaça, Ponta de Pedras, São Francisco de Jararaca, Cachoeira, Lago Arari, mares da Mexiana, essas fazendas, deixavam nome. E aqui d. Amélia emenda o pensar íntimo do Leônidas: se a família Oliveira tinha ainda o que mostrar de bom era então o alfaiate, seu fino cortar, cozer, vestir. Dois ofícios aprendeu, não era pra se gabar, mas que sabia, isto afiançava. Seu Alberto ,tão escasso em elogios, louvou. Comessem o pão amassado e levado ao forno nas mãos de Leônidas. Vestissem na sua medição, seu feitio, prova e contraprova. Oficial de duas coisas que o homem mais carecia: o pão e a roupa, não vinha desde a Bíblia?
Ainda no pensar da d. Amélia:. d. Cecé, em seus sorrisos afiava um ferrão nos olhos, na voz meio macia, meio 59 cantante, escorria um desprezo. Mas quem visse aquela criatura pela primeira vez, cativo dela ficava,
D. Amélia foi coar um café pras visitas. Debaixo daquela figura? Da voz? Do olhar? Do queixo, boca, as faces? Justiça lhe seja feita, d. Cecé mudar não mudava. Bonita era, bonita é. Essa aí, no terreiro, açucarando-se para a banda do tio (que não tragava tais parentes), meu tio pra ali, meu tio pra cá? A fina! E o ar de quem é a mesma, a mesma daquele casarão agora me agüenta senão eu caio; o seu . trajar diz ainda que a fortuna não foi abaixo, as grandezas continuam, quando só é casca por fora o que ainda enfeita são os azulejos da fachada, nela e na casa... E agora me visitando? Com que fim? Ela que... a finada Antônia dos Navegantes me suba da sepultura e volte a dizer o que escutou de uma janela à noite. A finada Antônia passava e ouviu foi as coisas que essa aí, agora inocentinha no terreiro, soltou, falando de mim quando segui com seu Alberto pra Cachoeira: mas meu tio metido com preta daquela iguala? Aquela negrinha da Areinha? Meu tio mesmo não se dá apreço. Que malefício foi, que ele correu, apanha do igarapé aquela encantada? Pois não levou a joana ninguém pra Cachoeira, a negra emperiquitada num chalé? A finada Antônia, nessa ocasião, passavazinho justo pela porta das Oliveiras; estas, entretidas na janela, comiam tangerinas, nem viram quem passava, como também nem adivinharam o que era que já rondava aquele sobrado, e que roía por dentro da madeira. Nem notaram quem passava, sim, Antônia, a pobre, já então bem doente, direitinho um tacamim andando, por ali passou; não tinha cera no ouvido, foi ouvir, chegou que chegou, a alma pela boca, na Areinha, e contando e repetindo: esta eu ouvi, quem mais falava era a Cecé, a d. Cecé.
Ah, tenho ainda, te lembra, Amélia, de acender uma vela na sepultura da minha triste prima, ah prima Antônia, esvaidinha, do seu corpo não tinha mais nenhum osso, tudo que ali sobrava era coração.
D. Amélia chama o filho que leva a bandeja do café,
— Ah, gente, mas esperem, agora me lembrei, me deixem eu fazer já uns beijus, é um repente.
Assando os beijus, o ouvido era no terreiro, mariscando a conversa, seu Alberto nas suas sabedorias, com a 60 sobrinha de beiço caído. D. Cecé, vezes, falando da família. até que a voz mudava. Aquela? Duvidando do meu filho? Não pode ir estudar, por que, me de a razão, por ser meu filho? Visse as notas dele, sim que não valia a pena estar anunciando a Deus e ao mundo, cantar glória ,podia estragar quem ainda mal-a-mal iazinho principando. Mas o quadro de honra dele no Grupo Escolar Barão do Rio Branco? O ler dele, o jeito de desfolhar o jornal, perna em cima da perna, abrir a estante do pai, um pouco impaciente e um ar convencido de quem falasse assim: vocês, livros,, serão meus. Ah duvidando desfazendo descrendo do meu filho, que eu é que sei o quanto me custa, o quanto me dói sustentar a criatura lá na cidade, ele que sempre me falou num colégio, sonhou as alturas, num orgulho de, um dia, saber. E agora de novo, foi o que tanto conversei com a Dorotéia, não tinha um canto onde ficar em Belém. Casa dos primos, na Rui Barbosa, nem um alfinete ali cabia mais. Onde agasalhar? Ah, eu nos meus cuidados de levar o Alfredo de volta e me aparece essa São Tomé no terreiro. Duvidasse do dela, do mimozinho dela, daquele bendito-é-o-fruto da d. Cecé, o mimoso que tinha um nome. que nunca foi nome de gente, nome que se põe em canoa. Um batelão, em rebocador da Port Of, em remédio de rico, aquelas coisas dos catálogos, dicionários e gramáticas do seu Alberto, nomes de astronomia, que nome pra teu filho me arranjaste, majestade... que até dizer, eu sei? Sim, seu Alberto, me desencantou do igarapé, sou a negra Amélia, que me prezo de ser, nunca fui moça de família... Mas, e ela, Cecé quem que causou todo aquele fim de mundo na noite do baile no «Trombetas», logo-logo depois que assoprou aquilo na janela em cima do ouvido da finada Antônia dos Navegantes? Ouvissem o mercado, a vila batendo língua, os precedentes daquela dama da corte do Muaná, como gracejava o seu Alberto, este obrigado a engolir semelhante parentesco. No tempo de grande, a irmã dele, a boa da mãe da d. Cecé, nunca inclinou o ouvido para um «me acuda» do irmão, se quisesse este gritar nas suas maiores precisões. (Jamais gritou, de orgulho). Ela de tromba empinada no braço do marido rico e juiz, e o seu Alberto secretariando sempre, perdendo a mulher, nunca dando o braço a torcer a semelhante parente.
61 Esta santa, aí, no terreiro? O papel que fez! Do papel da d. Cecé, da d. Celeste, ouvissem, puxasse pela língua da Dorotéia; ah, Dorotéia, lá de dentro das cozinhas ricas, fosses tu falar do que tu sabes, fosse mil noites, que a Dorotéia tinha em cada noite estória a debulhar. Fosse ouvir o balcão do seu Aguiar, aquela branquidade do centro da vila, os graúdos e os miúdos, fosse estoriar. Bastava a passagem daquela noite, a noite do baile a bordo do vapor «Trombetas». Foi que foi um vento soprando da vila para Areinha, tamanha hora da noite: o baile acabou, o «Trombetas» desatracou, e estourou que uma moça fugiu, moça? Mas qual moça? Uma do baile? Moça família? Botou asa na frente, foi-se, voou que voou. Se bem voou, longe de longe está; a moça qual foi? De dentro do baile? Não! Mas jura! Deixem de novidade, não azarem, não agoirem, não foi! Que é que estão me dizendo? Uma das Oliveiras? O cão te arranque a língua, mentiroso. Inventador! Mas assim? Então foi? A filha da d. Teodora Oliveira? Não. A mais velha? A do meio? Mas a Cecé? A d. Celeste Coimbra de Oliveira, da família Oliveira, a filha do Doutor Juiz, a namorada desde menininha do filho do velho Brasilino? Indo embora com quem, pessoal? Tudo menos essa brincadeira. Com o comandante? A Areinha pulou da rede, a falância entra e sai, sacode as coisas, as esteiras, acende os cachimbos, era uma vez sono, todos nos terreiro, as bocas juntas, um que chega e acrescenta, outro que parte atrás de novas, assim uma palavra que veio se junta a outra, esta pessoa falando com aquela, qual a formiga que acha no caminho um açúcar, vai, fala no ouvido da outra de repente o formigueiro. Celeste? A Cecé? A madrinha Cecé? A filha do doutor Juiz, homem de posses. dos senhores bailes no casarão de azulejos? Milhas andava o navio no de-com força, rompendo a mareagem e em terra os altos brados, a confusão nas Oliveiras. Que deu pela falta de filha, a mãe, a d. Teodora, cabelo despencando, gritou seus feios pressentimentos (não deixem a senhora esbracejar assim, correr na rua assim, parece desvairada?). Gente mas cadê Cecé? Celeste, era o seu grito em Muaná. A mãe se puxando os cabelos ,nos tamanhos gritos. Cecé não está no quintal? Não está na privada nem debaixo das bananeiras? Vejam debaixo das bananeiras. A mãe 62 pedia, a mãe suplicava. Debaixo das bananeiras. Me tragam, me procurem, me dêem conta de minha filha! Afogada? De repente um desgosto lhe contaram? uma verdade? No rio, caiu? D. Teodora corre, saltou, tropeçou, descadeirou-se nas raízes, acudiu a benzedeira, d. Teodora carregada para o sobrado, parecia mais uma culpada, será? La se acorda o namorado — no baile, por via do pé mordido pela aranha, não foi — acorda com aquele bababá de madrugada na porta: Cecé não está aí? Me dá minha filha, demonio! Desce um raio no rapaz: não sou coió, D. Teodora, agora sou eu que lhe quero cobrar, d. Teodora, me de conta da Cecé, d. Teodora. E veio para o meio do largo, aquele rapaz andando de um pé só e atrás a família dele, as empregadas, um macaco saltando, alguém abriu o cercado dos carneiros do Intendente e o rebanho cobriu à largo, berrando, com os meninos na torre para bater os sinos. E o formigueiro correndo, e as famílias na rua, nas janelas, na beirada, pelo rio já procuravam, tarde piaste, como dizia o Major Alberto. Cecé, Celeste, sumiu-se.
Correu que boiava, toda de branco, na maré; balançava, enforcada, no galho do cajueiro, os malefícios da noite haviam puxado a Celeste mas aonde? O rio cobriu-se de fachos e lamparinas, o mato vizinho, quintais, os atalhos espessos, galos saltando dos poleiros; as moças do baile sarapantavam na madrugada. Teve uma que de repente resmungou para si mesma: era para fugirmos todas, todas! E chorou que chorou, a mãe acudiu lhe pedindo que não, Cecé havia de voltar, aparecer sim, se Deus quiser. E foi então que a moça, tirando os sapatos, saltou gritou: Deus? Bem longe é que Deus quer que ela esteja, isto, sim. Deus favoreceu, que a mim também me ajude. A pena que ela não que avisasse. Eu, esta, também ia, ora!
O pai, que ouviu, irou-se, surrou que surrou a filha e esta, mordendo os beiços, mordendo os gritos, apanhava muda, rasgou-se o vestido e a meia nua trepou no jirau, o chicote do pai cortando-lhe a anca, os seios, ao clarão do candeeiro que a mãe, pedindo socorro, suspendia, e viu a moça na lama, a moça rolou entre os porcos, tirada das iras do pai, arrastada para a beira do poço onde um agitado tio lhe atirava baldes d’água e com um tão estranho 63 olhar que a mãe correu, cobriu a nudez da filha, afastou mais que depressa aquele tio, a moça, esfolada, surdamente repetia: a noite era nossa, de nós todas, o vapor nosso. E assim, sangrando, inchada, inchando-lhe um ódio, que ainda fedia a lama, saboreou vingança, desesperadamente feliz de ter dito aquilo e visto na praça, no trapiche, defronte das Oliveiras, aquelas primas em desalinho, aquelas famílias ali na rua, de anágua, as bundas transparentes, despidas ao olhar do mundo, toda a sociedade muanense de vergonha no chão, rasa, com a Cecé indo se embora, embora, ah inveja! Meu Deus, merda! merda! que estou ainda aqui, tinha de bater asas como Cecé, no «Trombetas», vem me buscar, navio. A Areinha, então, se vingava? De cara no pó, na calçada do Mercado, o namorado da Cecé amarrava e desamarrava o pano no pé esfolado. A moça em carne viva da surra do pai, sossegava nas folhas de bananeira. Ou sonhava, desmaiada, que ia embora no «Trombetas? As donzelas do Muaná, acesas, queriam ir. Pediam um vapor. De repente dobrou o sino, foguetes, tiros de espingarda. Por pasmo, raivas, regozijo, quem sabia? O rio num fogo por causa daquela pescaria no amanhecer atrás dum peixe que nadava noutras águas. No sobrado de azulejos, d. Teodora num rouco desvario, entre o marido, o Juiz, o Coletor Federal e esposa, se prostrava diante dos santos no oratório, muita vela acesa, e logo lá fora, um chamado, as vozes repetidas. «D. Teodora, depressa! De pijama, ao relento, colando o emplasto na cabeça, estava o Intendente, já sabedor de que Cecé foi vista mais que depressa entrando no camarote do comandante, o navio largando a prancha, a banda de música na ponte, bonito baile, pena não ir até o dia raiar, os adeuses, tocou um dobrado, o «Trombetas» apitava, lá se foi Celeste, a pessoa, a testemunha, contava. E todos pensavam que tinha fugido com o namorado. Este, de fazer dó o panema, a cara no chão, entre os que procuravam a perdida, a perdida longe no vapor «Trombetas». Até correu que as famílias da Celeste e do Antônio Emiliano, tão contrárias ao namoro, tinham, na véspera, chegado a uma harmonia, que paixão entre rapaz e moça, era loucura contrariar, bastavam os anos, já, de tanta contrariedade. Mas mesmo sabendo da completa inocência do Antoninho Emiliano, que nem no baile 64 foi, a família da Celeste atirou culpa no rapaz, na família dele, por simples atirar culpa, se desengasgar da vergonha. alguém de imediato tinham que culpar. Ignoravam ainda o relatório, este de boca, proclamado pelo seu Eusébio, o trapicheiro, ao Coronel Amoedo, o Intendente. As duas famílias rivais reacenderam a velha rixa, se batiam de língua no meio do largo das mangueiras, juntou gente cada vez mais, precisou o Coronel Amoedo, à luz dum castiçal dourado e com os cachorros latindo, puxar as suas sedas, soltar a verdade às partes litigiosas, bugalhos! como dizia o seu Alberto. Pois há quantos anos aquela paixão entre Cecé e Antônio, perseguidos, a moça apanhando de vassoura de açaí, mandada pra Belém, a família joga o desobediente no quartel de Óbidos, e assim neste vaivém, os dois pegados sempre, cada vez mais um do outro, de muito povo rezar que aquilo bom termo tivesse, os dois casassem por mão do juiz, caso não, se adiantassem, entornando o caldo, descendo nela o Divino Espírito Santo. E quando cansadas já estavam as famílias, rendidas àquele desvario, lá entornou o caldo a apaixonada, mas com outro, na rede do comandante do «Trombetas», atirada nos rumos do não se sabe até aonde e até quando, o Alto Amazonas. essas tão tamanhas lonjuras, estirões que só o Demo podia medir, esticar, subindo o Purus, ou Alto Acre, Juruá, a Celeste voando.
D. Amélia chama o filho, os beijus quentes alvejam no xarão, repete-se o café. No recordar as passagens contadas por Dorotéia, d. Amélia até sentia-se aliviada, alívio de tantas coisas de si mesma... Dorotéia bordava fino o acontecimento.
Servia a mesa no salão de bordo. O pudim que fez, o comandante provou, aprovou, chamou um marujo: traga para a d. Dorotéia uma caixa de sabonete. Àquele homem de aliança no dedo se podia confiar uma filha. Que era de seus agaloados uniformes, navegante daqueles oceanos do Amazonas, que nem um oficial de Marinha em cerimonia da batalha do Riachuelo, a Dorotéia afiançava. Pois Dorotéia viu foi quando o comandante apanha a dama que ia entrando a bordo, ela chegava de ar virado? Antes, durante o baile, e nem parecia derretida para o lado do comandante, 65 até de parecença triste, dançar, dançava sempre. chá de cadeira não tomava, mas fazendo que estava ali obrigada, o esprito junto do Antonino, este em casa com o pé doendo. Dorotéia tirou uma linha do par que valsava; mal apanhou a dama na entrada do vapor, o comandante com ela sabia voar, a menina num pião, me digam o que soprava o cavalheiro no ouvido dela, ninguém não diz, que era que o Satanás mandava dizer? O comandante bisava a valsa, toca valsa em cima de valsa, o mesmo par, dançaram as doze valsas? Assim a Dorotéia estoriou e dizia: ai está a Maria Inês que não me deixa mentir, ela me ajudava nos doces; ali o compadre Teotônio que tocava, ele não tocava com os olhos, tocava? Os olhos dele dum fiscal. Que eu não tenha salvação, se não vi aquele bigode roçando a testa da menina, da entristecida, ou mundiada; que deu nela em terra para voltar assim a bordo? juro a vocês que um calafrio me deu. Daquele facilitar, foi, fugiu, no sopro da valsa. Mas eu agora cismo: aquilo bem que já vinha de muito tempo, das viagens do «Trombetas» das boas etiquetas, aquele foi um cálculo do comandante, as núpcias... A sorte? A sina da aranha ferrar o pé do Antonino? Mas eu tenho que a Cecé quando voltou de terra, vinha mal guiada, o rosto na valsa se acusava, que foi que pegou na moça que fez abrir o seu abismo? Ou desta vez o boto vinha num navio, de capitão, deu baile a bordo, carregou a moça família? Arre, que os brancos saibam, o risco que tem para donzela pobre tem também pra donzela branca.
Dorotéia, por ter visto, estoriava comprido, até de se reclamar: encurta a língua, imaginosa. Celeste quis navegar? Fizesse boa viagem. Mas Deus livrasse as moças pobres daquela navegação.
D. Amélia saboreava as lembranças. Oh famílias! dizia a Dorotéia. Mexessem por dentro delas, estas do Muaná, aquelas de Belém, eu bem que sei, vejo, estou na cozinha, mexesse, só no destampar, fedia.
D. Cecé louvou os beijus tão bons.
— Tu, Amélia, em tudo que pões a mão, se sabe.
D. Amélia, agora na cozinha, servia os periquitos: esta aqui, eu, esta aqui, sua senhora-dona, anda escaldada... Não vem de ora pro nobis pro meu lado, que eu conheço a ladainha.
66 Mas d. Cecé lhe passou a mão pelas costas num bom modo:
— Hein, Amélia, e o teu cavalheiro? Onde teu filho está parando agora na cidade? Qual a casa? Tu queres, eu agasalho ele lá na minha, está no teu querer, afinal é casa dum parente, tu resolves, rapariga. Não, tio Alberto? Passa por lá em casa, que a gente ajusta, até amanhã, Amélia, bença, tio Alberto? Vamos, Leônidas.
67
Caminho da Mac-Donald
Caminho da Mac-Donald
I
Alfredo viajou no «Zéfiro» em companhia de Leônidas. Desciam do Circular na travessa D. Pedro, esquina da Curuçá, quando o alfaiate encontra velho conhecido e se entrete a conversar. Não demorou a Usina apita. Alfredo murmura: as seis. Belém, Belém, repetiu, saboreou a palavra, como se, na sua volta, só agora retomasse intimidade com ela. Às oito será de novo a Usina, às nove o Utinga. Voltava a viver aquelas horas. E lá da Gentil, trem, campainha da carroça de leite, corneta do quartel, sino da Basílica, uma saudade lhe deu.
As lâmpadas acenderam, menos a da esquina da Curuçá, queimada. Passou outro bonde. Impaciente com aquela conversa, virando, revirando o embrulhinho na mão, atando o cordão do sapato, remontado no Muaná, Alfredo desconfiava: aquela paragem ali, apesar da linha de bonde, boa cara não tinha. Defronte, o muro do Esquadrão, que dava nome ao largo, este lá adiante na curva do Circular, era-era engolido pela noite. Que diferença entre as duas chegadas de estudante a Belém, a primeira com a mãe, manhã alta, cidade desconhecida, e ele, hoje sabia, embora a cabeça pelada, num feliz espanto. Agora, numa curiosidade triste. Sim que quase rapaz, pronto para calça comprida, sem chegar pela mão de ninguém. Leônidas vinha com ele por uma simples coincidência porque começava, daquela viagem em diante, a encarregar-se do «Zéfiro», de parceria com o 68 cunhado, o novo dono da velha canoa freteira, veleira velha daqueles ventos, casco bichado daquelas águas. E tarde, tinham chegado tarde. Por ter de embarcar alguma telha no Arapiranga, o «Zéfiro» atrasa-se, chega no Ver-o-Peso, ainda por cima chuviscando, já o sol por trás da outra margem do rio manchava de amarelo o rosto da cidade.
Leônidas não largava o conhecido. Alfredo, na sua cuíra: Anda, rapaz, um tiro nessa conversa. Quero decifrar a tal da casa, saber a hospedagem.
Durante a travessia, o alfaiate lhe falava de hotéis no Recife, Ser um hóspede. Sou. O meu hóspede, dizia a d. Cecé ao despedir-se dele, Alfredo, em Muaná. Espero lá o meu ilustre hóspede. Alfredo palpitava: E a casa lá? Como será? Alta? De platibanda? Telha francesa? Soalho madeira preta e branca? Sacadas?
Em Muaná, a casa da d. Cecé, o que tinha de bem usada tinha de boa apresentação se bem que uns tantos estragos na parede, a pintura caindo, o tijolo exposto, mas uma porta de entrada senhora porta. E a parte da cozinha com os ladrilhos? A varanda fazia logo era a gente ter um apetite, uma fome de um tudo farto e bom que ali outrora se comeu. Na sala de visitas, se mirando no solitário espelho da parede, as velhas austríacas reluziam, o fundo da palhinha se delindo, duas já coxas, a outra de encosto furado. No dia em que recebeu a Nossa Senhora, que tirava esmolas de casa em casa, ao som da banda do seu Samico, d. Celeste colocou a imagem na mesa forrada de uma toalha bordada, uma beleza. D. Cecé deu café, serviu doces, com o seu esmero no receber, no servir, no agradar, uma educação em tudo, e ele, Alfredo, espiando, descalço, curiozinho, a senhora era ali mais olhada do que a santa e esta vá ver que até encabulada, em cima da toalha, e fitas, o xarão dourado e cerimônias de uma casa de tal especialidade. As austríacas, onde ninguém sentava, devam conta do seu papel. O espelho ali em cima tirava as suas fotografias.
Decerto que em Muaná boas casas arriavam, por que, não sabia lá ainda muito bem. Os donos só pensavam nas suas novas de Belém? Por exemplo, a d. Celeste, na cidade, morava em casa própria. No terreiro do avô, Alfredo ouvia a mãe:
69 — Hum, mas a casa não é dela? Isto não basta? Deles. Na casa da gente, a gente é rei.
Para a mãe, ser dono de qualquer cochicholo na cidade, fosse um buraco de bicho, um ovo, valia mais que ter estas e aquelas casas em Muaná ou Cachoeira. Fosse de chão, palha ou zinco, era um Belém, para o filho estudar, dela, que pena não ter forçado o seu Alberto a comprar a barraquinha da Bernal do Couto, naquele ano quase de graça, hoje, fosse ver a fortuna que pediam.
Porém d. Celeste, fina, de pé fino, habituada na sua casarona do Muaná, passando a mão nos azulejos, a d. Celeste, fugitiva do camarote, não morava senão debaixo da boa telha e seu bom forro pintado de onde pendia o lustre, vidraça na janela, bairro do Umarizal. Ela, filho de sobrado, da janela alta, onde pendurava a cabeça para ouvir num só repente, de lá debaixo do escuro, o gargarejo do namorado proibido, não era de morar em barraca. Não se dava em choupana quem fugiu no «Trombetas». Conforme Alfredo ouviu falar no terreiro, d. Celeste ocultava o seu endereço em Belém, para se livrar dos abelhudos, principalmente daqueles do interior que, de tanto se meterem. dias, em casa alheia em Belém, já faziam disso um ofício. Esquiva, falava assim:
— Ali, no Umarizal, onde moro, moramos, eu gosto. É na Passagem Mac-Donald. Placa ainda não tem por simples esquecimento da Intendência. Eu é que acabo encomendando uma no armazém do Reduto. Foi já aprovado pelo Conselho Municipal o nome. Nome de um Inglês, morador ali perto falecido. Contam que bebia... Mas era da Port Of. era um engenheiro, sabia, Mac-Donald. Mando fazer a placa no Ferreira Gomes.
Enchia a boca de Mac-Donald. O número da casa? Não te digo. Alfredo lhe dava razão.
Agora na rua, olhava para o Leônidas. Anos. A conversa ia durar anos. Afastou-se, no caminho da Curuçá. Por ali, segundo as indicações de Leônidas no bonde, teriam de entrar na Passagem Mac-Donald. Pelo que ouviu na Areinha, a Passagem Mac-Donald, no Umarizal, era mais exatamente atrás do largo do Esquadrão, pertinho do bonde Circular, num pulo estava-se no largo de Santa Luzia, à 70 esquerda. Alfredo, desconfiado, parou. O chuvisco, que suspendia, voltava. A rua, sem calçamento, cavada pelas chuvas, escorregava, com uns passeios de quina roída, aqui e ali, rente das barracas; no passo do caminhante, a mangueira fazia saltar suas raízes e lá no capinzal sob um grunhir de porco e sapo, a escuridão, ali, de sentinela.
Voltou. Os conversadores longe de se despedir. O alfaiate, era o seu fraco, conversar. Onde fosse, compromisso que- tivesse, parava a máquina de costura, ficava horas, virando língua. Ah, que os fregueses se ralavam. Fino de tesoura, demais demorado na execução, um jabuti costurando. Assim no tempo da padaria. Quando chegava o pão nas casas, no balcão do seu Aguiar, tamanha hora do dia, Muaná era uma só boca: Leônidas teve com quem bater língua, esta madrugada. É o melhor ofício dele. Alfredo sorri, o oficial de alfaiataria, o oficial do pão, este um tal de oficial...
As lâmpadas acenderam, menos a da esquina da Curuçá, queimada. Passou outro bonde. Impaciente com aquela conversa, virando, revirando o embrulhinho na mão, atando o cordão do sapato, remontado no Muaná, Alfredo desconfiava: aquela paragem ali, apesar da linha de bonde, boa cara não tinha. Defronte, o muro do Esquadrão, que dava nome ao largo, este lá adiante na curva do Circular, era-era engolido pela noite. Que diferença entre as duas chegadas de estudante a Belém, a primeira com a mãe, manhã alta, cidade desconhecida, e ele, hoje sabia, embora a cabeça pelada, num feliz espanto. Agora, numa curiosidade triste. Sim que quase rapaz, pronto para calça comprida, sem chegar pela mão de ninguém. Leônidas vinha com ele por uma simples coincidência porque começava, daquela viagem em diante, a encarregar-se do «Zéfiro», de parceria com o 68 cunhado, o novo dono da velha canoa freteira, veleira velha daqueles ventos, casco bichado daquelas águas. E tarde, tinham chegado tarde. Por ter de embarcar alguma telha no Arapiranga, o «Zéfiro» atrasa-se, chega no Ver-o-Peso, ainda por cima chuviscando, já o sol por trás da outra margem do rio manchava de amarelo o rosto da cidade.
Leônidas não largava o conhecido. Alfredo, na sua cuíra: Anda, rapaz, um tiro nessa conversa. Quero decifrar a tal da casa, saber a hospedagem.
Durante a travessia, o alfaiate lhe falava de hotéis no Recife, Ser um hóspede. Sou. O meu hóspede, dizia a d. Cecé ao despedir-se dele, Alfredo, em Muaná. Espero lá o meu ilustre hóspede. Alfredo palpitava: E a casa lá? Como será? Alta? De platibanda? Telha francesa? Soalho madeira preta e branca? Sacadas?
Em Muaná, a casa da d. Cecé, o que tinha de bem usada tinha de boa apresentação se bem que uns tantos estragos na parede, a pintura caindo, o tijolo exposto, mas uma porta de entrada senhora porta. E a parte da cozinha com os ladrilhos? A varanda fazia logo era a gente ter um apetite, uma fome de um tudo farto e bom que ali outrora se comeu. Na sala de visitas, se mirando no solitário espelho da parede, as velhas austríacas reluziam, o fundo da palhinha se delindo, duas já coxas, a outra de encosto furado. No dia em que recebeu a Nossa Senhora, que tirava esmolas de casa em casa, ao som da banda do seu Samico, d. Celeste colocou a imagem na mesa forrada de uma toalha bordada, uma beleza. D. Cecé deu café, serviu doces, com o seu esmero no receber, no servir, no agradar, uma educação em tudo, e ele, Alfredo, espiando, descalço, curiozinho, a senhora era ali mais olhada do que a santa e esta vá ver que até encabulada, em cima da toalha, e fitas, o xarão dourado e cerimônias de uma casa de tal especialidade. As austríacas, onde ninguém sentava, devam conta do seu papel. O espelho ali em cima tirava as suas fotografias.
Decerto que em Muaná boas casas arriavam, por que, não sabia lá ainda muito bem. Os donos só pensavam nas suas novas de Belém? Por exemplo, a d. Celeste, na cidade, morava em casa própria. No terreiro do avô, Alfredo ouvia a mãe:
69 — Hum, mas a casa não é dela? Isto não basta? Deles. Na casa da gente, a gente é rei.
Para a mãe, ser dono de qualquer cochicholo na cidade, fosse um buraco de bicho, um ovo, valia mais que ter estas e aquelas casas em Muaná ou Cachoeira. Fosse de chão, palha ou zinco, era um Belém, para o filho estudar, dela, que pena não ter forçado o seu Alberto a comprar a barraquinha da Bernal do Couto, naquele ano quase de graça, hoje, fosse ver a fortuna que pediam.
Porém d. Celeste, fina, de pé fino, habituada na sua casarona do Muaná, passando a mão nos azulejos, a d. Celeste, fugitiva do camarote, não morava senão debaixo da boa telha e seu bom forro pintado de onde pendia o lustre, vidraça na janela, bairro do Umarizal. Ela, filho de sobrado, da janela alta, onde pendurava a cabeça para ouvir num só repente, de lá debaixo do escuro, o gargarejo do namorado proibido, não era de morar em barraca. Não se dava em choupana quem fugiu no «Trombetas». Conforme Alfredo ouviu falar no terreiro, d. Celeste ocultava o seu endereço em Belém, para se livrar dos abelhudos, principalmente daqueles do interior que, de tanto se meterem. dias, em casa alheia em Belém, já faziam disso um ofício. Esquiva, falava assim:
— Ali, no Umarizal, onde moro, moramos, eu gosto. É na Passagem Mac-Donald. Placa ainda não tem por simples esquecimento da Intendência. Eu é que acabo encomendando uma no armazém do Reduto. Foi já aprovado pelo Conselho Municipal o nome. Nome de um Inglês, morador ali perto falecido. Contam que bebia... Mas era da Port Of. era um engenheiro, sabia, Mac-Donald. Mando fazer a placa no Ferreira Gomes.
Enchia a boca de Mac-Donald. O número da casa? Não te digo. Alfredo lhe dava razão.
Agora na rua, olhava para o Leônidas. Anos. A conversa ia durar anos. Afastou-se, no caminho da Curuçá. Por ali, segundo as indicações de Leônidas no bonde, teriam de entrar na Passagem Mac-Donald. Pelo que ouviu na Areinha, a Passagem Mac-Donald, no Umarizal, era mais exatamente atrás do largo do Esquadrão, pertinho do bonde Circular, num pulo estava-se no largo de Santa Luzia, à 70 esquerda. Alfredo, desconfiado, parou. O chuvisco, que suspendia, voltava. A rua, sem calçamento, cavada pelas chuvas, escorregava, com uns passeios de quina roída, aqui e ali, rente das barracas; no passo do caminhante, a mangueira fazia saltar suas raízes e lá no capinzal sob um grunhir de porco e sapo, a escuridão, ali, de sentinela.
Voltou. Os conversadores longe de se despedir. O alfaiate, era o seu fraco, conversar. Onde fosse, compromisso que- tivesse, parava a máquina de costura, ficava horas, virando língua. Ah, que os fregueses se ralavam. Fino de tesoura, demais demorado na execução, um jabuti costurando. Assim no tempo da padaria. Quando chegava o pão nas casas, no balcão do seu Aguiar, tamanha hora do dia, Muaná era uma só boca: Leônidas teve com quem bater língua, esta madrugada. É o melhor ofício dele. Alfredo sorri, o oficial de alfaiataria, o oficial do pão, este um tal de oficial...
Que ofício dá pra Ele
Mando tiro, tiro lá
O ofício de conversador
Mando tiro, tiro lá
Este oficio já me agrada
Mando tiro...
Mando tiro, tiro lá
O ofício de conversador
Mando tiro, tiro lá
Este oficio já me agrada
Mando tiro...
Alfredo, pela D. Pedro, cantarolando o «Mando tiro», que era um modo de enganar a impaciência, a sua cuíra, pisou a calçada do botequim, alcançou a Santa Luzia, o largo. Quem dizia Largo de Santa Luzia dizia Maternidade e Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará. O casarão tinha os seus portões de ferro para o Oliveira Belo, que cortava a Dois de Dezembro. E nesta, a Maternidade com a sua fachada cor de canja de alinha, Alfredo olhou a Dois de Dezembro, ia embora com a sua linha Circular passando pela São Jerônimo. Estrada e largo de Nazaré, o Grupo Escolar Barão do Rio Branco, o muro das frutas ponteado de caco de vidro, até a Gentil onde moraram os Alcântaras. Aquela Dois de Dezembro repartia-se. De um ponto, por exemplo, da João Balbi, até a Gentil, tinha placa, Estrada Generalíssimo Deodoro. Era cruzar a Gentil, lá pra baixo, sem calçamento, sem bonde nem placa, escurecendo de palhoça e vela, Dois de Dezembro, voltava 71 o nome velho. Naqueles lados onde andava, Alfredo pegou a Santa Casa, desembocou no largo da Santa Luzia.
Dois de Dezembro era chão do Umarizal, dando ares para Curuçá, esta rua que Alfredo nunca ouviu dizer. Umarizal muito falado, Por ali, pelos tempos de «boi e «pássaro», quando vinha buscar o seu montepio, d. Rosália Saraiva, mãe de Lucíola, arrastava o seu chinelinho. Uma outra cidade brotava? Não voltando para Nazaré nem pra casa das primas na Rui Barbosa, noutra Belém pisava então? Sim, no Muaná, a mãe bastou avisar: se prepare, que você volta, volta no «Zéfiro». Já mudei o punho de sua rede. Agora me chegue lá no Ver-o-Peso, me vã, me pele de novo a cabecinha, de vez em quando me amarrando o cordão do sapato, não me desatrapalhe o punho da rede e quanto tiver uma ferida na perna, não me lave não bote pomada... Parece que estou vendo... Que não és tio bimba, o meu tio bimba, isto eu sei, és é o pai, o bom do teu pai. Até que peço que o espírito da nha Lucíola te acompanhe. E por enquanto se agüente lá, que remédio.
Mais não disse, mais não explicou, passando a ferro os dois fatos do escolar. Lá. La-la-la. Bole bolacha bole em cima bole embaixo, soprando o ferro, cantarolando. Cantou que cantou. Como tinha de seguir, ela e o Major, para Cachoeira, o filho foi ficar em casa das irmãs, aguardando a partida do «Zéfiro», As irmãs, estas, bem oferecidas. «Se acostume com o cominho», brincou a mãe. Teria dê esperar uns dias mais, o «Zéfiro», na recalafetagem, queimando o casco por via de bicho. De madrugada. em companhia do Major, ela embarcava, de volta para o chalé, Ninguém na Areinha a não ser o tio carregando a bagagem, Alfredo, na ponte pública, por que este desassossego? Coisa a perguntar! Poder lhe pedir: Mamãe, ali atrás do armário, Satanás se esconde, aquelas garrafas lá, a senhora quebra? Quebra, sim, por amor de Mariinha, pelo filho afogado, pela amizade da Dorotéia? Por causa daquelas garrafas, fugiu naquela noite, atrás dele saiu Lucíola, conheceu Edmundo, por quem se matou, de quem a principal culpa? Alfredo estremecia a pensar nisso, pensar confuso, e queimando-lhe o rosto subiam os faróis do campo que procuravam Lucíola. As garrafas, quebre, mamãe. Muitas vezes, via as garrafas de gargalo feito uma 72 cara, lhe atirarem rolhas, lhe esguicharem cachaça, tornando-se bojudas, garrafões de repente, saltando no armário. atrás da dispensa, num ruído de rato e zombaria. Viu. num sonho, a mãe rodeada pelas garrafas, estas numa ciranda em que os vidros tiniam, as rolhas espoucavam, o esguicho da bebida levantava o telhado do chalé. Logo cobras corais, dentro das garrafas, a língua fora do gargalo, sumiam para que da espuma, lá dentro da cachaça, fosse, aos poucos, desenhando a Figura, o Rabo, os Chifres de Fogo, as asas de Morcego, a língua de labareda, a dentuça amarela do Cão de onde escorria a baba a encher novas garrafas ali de repente, estas correndo num rodar de carroussel até a rede onde a mãe dormia. Alfredo, desinquieto, pensava nessa figuração e sonho das garrafas, agora no embarque da mãe. Ou então beba um pouquinho, o seu gole, mas na vista de todos, beba como bebia a d. Marcelina, como as velhas bebem, cada careta engraçada no beber, cuspindo pro lado. cachimbadeiras, cuspideiras grossas, beba assim, como certos velhos ao pé do balcão, já coçados, que bebiam tão sério, que nem o padre no vinho ao pé do altar. Mas lá no escuro, num glute-glute escondido e logo gritando pela Maninha com um fogo saindo pela boca, olhar e pé incerto no soalho? Ali na ponte, ao pé dela, o remorso lhe ferrou: não podia deixá-la na mão daqueles pequenos e pequenas que traziam as garrafas debaixo de pano, dentro de paneiro forrado, pelos fundos do quintal, entre as estacas, horas velhas da noite, e depois iam rir dela no algodoal, na beira do rio, roendo as roscas que compravam com os tostões ganhos. Andreza, não, esta, coitada, errava pelas fazendas. Ai, Andreza, tu, nunca mais? Era dever seu voltar com a mãe, quebrar aquelas garrafas, já no chalé, varrendo da porta e do quintal os guris das garrafas? Sente a cicatriz da antiga ferida na perna tratada pela mãe, as perguntas na garganta, enquanto que ela, bem embarcando, bem longe estava, nem seu sousa. Ela não via nem não notou um sinal daquilo que mordia por dentro dele? Em arrumar os seus paneiros de camarão, a bagagem, só nisto ela se ocupava? E a pressa de despachar o irmão: vai, Ezequiel, vai lancear teu camarão, não te pego, rapaz. E olha, quanto te der na cabeça, fecha a tua igreja, vai rezar uma ladainha lá no chalé, vai que te arrumo um casamento. E aquele 73 muito do impossível, o Sebastião, lá no Rio de Janeiro? Nem um bilhete, nem um retrato para a tampa do meu açucareiro espantando as moscas. Lá um dia me aparece, te aparece, o mesmo da pororoca e da espanhola. Ah, Ezequiel, não te falei, nem te digo, o que o Sebastião fez com a filha do espanhol dentro da igreja! Só dentro da igreja? Muito mais! Diante do altar, então que aumentaram as línguas, aquelas de Cachoeira. Oh igreja de má fama, aquela! Só depois eu soube, Sebastião é o teu avesso, meu irmão. Mas tem que ser assim numa família... Ou não somos uma família? Que você acha, hein, seu Alberto? Sebastião, aquele-um? Fede a enxofre, credo cruz, mas eu, tu, Ezequiel, que estás aí com cara de quem ouviu a voz do diabo, se benzendo, todos nós, basta que ele apareça, a gente arreganha o dente e lá estamos todos nós nos pés do Malazarte. Vai, Ezequiel, não te pego. Ainda está na hora de lancear, ah eu, noutro tempo, meu tempo... Ah eu neste rio, lanceei que enjoei. Lanceava, sim, as águas mortas, lua minguando, camarão dando que era uma safra. Tu te admira, Alfredo? Também apanhei turu no mangue. Adeus, Ezequiel, manda um camarão de vez em quando, do teu, meu escasso. E se até outro ano eu não der o café, eu volto.
Foi o tio partir, ela abençoou o filho, lhe deu uma palmadinha na testa, ligeirinho logo entrou na «Borboleta» e tudo assim tão de repente, como não era de esperar nem desejado, que Alfredo ainda balbuciou: Mamãe... se engasgando, num calafrio, ardeu-lhe a cicatriz, como se voltasse a sangrar, coçou, metia a unha na própria mágoa, na ferida funda. Lá estava ela na popa da lanchinha, ao lado do pai, cuidadosa de seus panemos. O Zequinha armou a rede do Major, virou a roda do motor, uma, duas, três vezes, não pegava, vira de novo, pegou, parou, pegou de novo, cresceu o barulhinho da «Borboleta» espantando a lanceação das beiragens. Num instante, sumiu na dobra do estirão a luzinha da popa, o estirão engolindo a «Borboleta». No rio, foi um silêncio! Voltavam as luzes da lanceação. Então Alfredo se deu que estava só, só-só. Correu um pouco, defronte da igreja, olhou os restos da ornamentação, o lixo da festa morta, assustou-se: a manga despencou da mangueira. Só. Lá se iam os dois embora. Só. Pelo rio, para o 74 chalé, era como ir para um confim, E este receio, sentir-se só, por que, por quê? Dentro dele, as garrafas boiando, se batendo, como dentro d’água? Cheio das vozes da mãe, por quê? Que-que tinha? Que-que tinha? Dele os dois levavam não sabia o que era, a surpresa daquela festa do tio na Areinha, o sabor do terreiro, o beijo que a mãe esqueceu de lhe dar? Não ter tido aquele beijo por demais lhe doendo, lhe doía. Suficiente um. Um só. No que ela fosse beijando ficaria encabulado, muito. Depois, sim, é que ia, bem-bem devagar, sentindo aquele beijo. Não deu, por distraída? Entretida com o tio? Saudades do tio Sebastião? Pensava em Cachoeira, a sede das garrafas? Não deu. Custava dar? Dava na Dorotéia, nas primas, nelas da Areinha... Mas, ora, ah, não deu, melhor, com pouco mais não estou um homem? Importa um beijo? Não deu, não deu, acabou-se, Qual das mães é a mais minha, esta que fica, sem corpo nem voz, ou aquela que foi?
Caiu na rede, sala do pai, embalo miúdo, sono nem sombra. Na alcova, a ceguinha tossia. Ou a tosse dela era chamando para conversarem? «Como foi?» Ela assim sempre indagava. «Como foi?» Tão indagadeira quanto a Dorotéia sereneira, no dizer da mãe. Mas só dentro da alcova, quando saía, sala, varanda, cozinha, janela, era quietinha, sem língua, uma luz, por dentro dela, aparecia.
Do seu embalo impaciente — voltava a doer-lhe o beijo perdido — quis descer, ver a irmã, contar como foi que os dois embarcaram, a bagagem toda cheirava a camarão frito. Camarão do Muaná, camarão do Araquiçaua. Ligou os dois no mesmo sentimento, na mesma estória que teria de contar à ceguinha, não contou, agora arrependia-se. No Arari, no Araquiçaua, onde Clara se afogou, águas do velho remeiro Barnabé, camarão cobria a mesa do seu Raimundo Reis, o caladão, o Napoleão de Santa Helena metido no Araquiçaua, criando bode,. dizia o pai. Seu Reis tinha um porte antigo, a mão por dentro da blusa cerzida, saudoso de sua antiguidade, das guerras que não fez. No Araquiçaua, jantar, viu camarões na mesa, com caldo, assados cheirando, muitos, aquela altura deles na travessa de barro, as demais pessoas comendo. Não, não como desse camarão, me faz um mal, dá de novo a febre, esta recolhida aqui comigo, que tenho, faz mal comer, que bons que estão, não? 75 Posso? Mas faz mal mesmo?» Os comedores descascavam os assados, e o molho, o sal na boca, os camarões sumindo, e eu neste medo, não, não, me faz mal, esta febre, ela só está esperando que eu ao menos prove, camarão é um veneno, todos disseram. Ficou foi só casca de camarão na mesa, as pessoas se regalaram, o Napoleão chupava lento as ultimas cabeças, lambia os dedos com marcial cerimônia, depois ajuntou os restos e atirou ao porco que comia roncando gostoso, ali cevado, se adormecendo no coçar da mão do antigo guerreiro. E foi que nesta noite, lhe deu a febre, talvez febre de arrependimento, por não ter se regalado, camarões que nunca mais. Camarão do Araquiçaua, beijo da mãe, adeus que voltavam. Embalava-se. A mãe disse: E se até outro ano eu não der o café... Ela já pensa morrer? Morrer!?
Pudesse, não chorava, pois chorar era entanguir a pessoa, dificultava o crescimento para rapaz. Embalar se embalava. Para desencravar a unha da mágoa, melhor mesmo descer do embalo, tocar na rede da ceguinha, cadê jeito? Chegarzinho perto... era que era uma légua e meia... A ceguinha tossia, tão perto que fazia ficar mais longe. Mais fácil ir até o chalé, acompanhar a «Borboleta», no rio, no Marajoaçu, canal, o Laranjeiras, entrou no Arari, aqui o Araquiçaua, esta ilha, o Itacuã, o Mutá, a dobra do estirão, a Folha Miúda, o chalé um tanto carrancudo, e lá dentro a satisfação das garrafas na dispensa sabendo que iam meter de novo nos seus gargalos a inocente que chegava. Mais custoso era dar aquele passo para junto da irmã e dizer, o rosto alisando o punho da rede, eh, eh, ererê, dormindo? Te contaram já a estória do lilás?
Do lilás, não. Causo de cego, não. Outra, alegre, dos engraçados do cinema, as estórias do Antônio e da Libânia, as adivinhas da Magá. Ou por puro falar: tem luzes no rio, lanceiam. Vai que vai haver camarão. Já é bem de madrugada.
Que era bom de madrugada bem baixinho conversar, ouvindo um galo longe, bem que era. Era como surpreender uma coisa que nunca nos é permitido ver nem ouvir nem imaginar, agora em nossas mãos. Ficava então dali da rede conversando: a irmã na alcova, para esta nunca o dia clareava. Dormia? As silenciosas palavras pelo ar, dela 76 e dele; coisas pelo ar as pessoas, sem o uso da língua, conversavam, faltava era saber ouvir, ter a atenção que têm os bichos, peixe, pássaro, onça, coruja, as plantas, e passar a limpo as questões no caderno. Lembrou a conversação antiga com aquele peixinho no chalé, noite em que Maninha se queimou. Ou por esta lembrança, ou o receio das irmãs noutro quarto, não desceu, ficou pelo ar, o silêncio levando e trazendo às palavras, dele e dela. Mas lhe parece ver — agoniada imaginação — ver a mãe inclinar-se devagar sobre a rede, aqueles seus dentes numa alvura, roçar-lhe os lábios no rosto, o cheiro da mãe, um pouco de tabaco, um pouco da mãe mesma que se entranha no filho, o sossego do rosto dela lhe untando os ferimentos.
Teria dormido? Acordado as irmãs? Alguém na sala? As irmãs dormindo? Que se sabe de uma criatura por dentro principalmente no sono?
Quando o pai, de regresso a Cachoeira, apanhou o chapéu e disse da porta para dentro: Bem... Ó da cozinha... vieram as duas com a bandeja do café, ligeiras, pés de sumaúma, falando baixo, compassado, seus aventais. Tomaram a bênção, ligeiras, piscando. Alfredo jurava ter visto nelas um alívio pelo pai ir embora. O pai dava ou não dava o seu trabalho? Fazia fazerem janta, o cafezinho das duas da tarde, armar e desarmar rede na sala, tira e põe o servidor ao pé da rede e o queimar raiz no fogareiro para espantar os bichos, receber visitas, o lavar prato não aumentava? Tinham que abrir as janelas da frente e sempre um mais agora, outro à tardinha, não cansa? Vinha ou não vinha desarrumar aquele sosseguinho tão delas? Natércia, sobretudo, seu piscar miúdo, na hora da despedida, satisfeito, era dizendo: se desenviúve por lá um bom tempo, papai. Alisando as mãos no avental, arregalava mais os olhos, não escondia. Letícia, sempre aveludada, só fazia sorrir para o irmão, sorria, a modo que de tudo aquilo que acontecia e não acontecia, de bem e de mal, uma boa graça achava. Um e outro instante, logo contido, pareceu assim como se dentro dela saltasse um repente de sair voando madrugada fora... Por último, sem ser guiada, veio a cega, o rosto de adormecida, e o pai, breve no abençoar, numa vaga pressa, Todos tinham pressa? Major e chalé, de novo se uniam, na «Borboleta», menos o filho que ficava. 77 De todas as mães que era, de novo a sina daquela só, na dispensa escura, boca nas bocas das garrafas, no restilo do Cão? E o pai? Ali no quarto misterioso, teria mesmo, como uma roupa de cerimônia, se recolhido a viuvez?
No largo da Santa Luzia, Alfredo foi andando, levado, agora, pela recordação daquela viagem a Belém, quando a mão veio ter a Mariinha na Maternidade, o pai doente da garganta no risco de operar, tempo da influenza. da guerra acabando. Foi em outubro, Círio de Nazaré, ele, muito zinho ainda, cheio de visões e aflições na Bernal do Couto, ali fronteira do muro do hospital, desaguando no largo. A mãe naquele casarão a ter Mariinha. Em verdade, teve, como se fosse sem parteira nem doutor, o suficiente ter sido no meio daquelas penugens alvas, sua cama, seus travesseiros, seus lençóis, as fronhas, o termômetro, aventais, louça, mão e rosto de freira, tudo em pluma de garça, silêncios, incenso, a sineta chamando para a missa na capela, grito, cheiro, choro daquela parição de quanta mãe. Lá vinha a mãe saindo debaixo dos algodões, gazes, irmãs da Maternidade, trazia no rosto um negrume enxuto, bem descansada, contando dos caldos, da maçã comida, das canjas branquisossas, o resguardo em tanta alvura. A mãe na Maternidade! O pai conseguira do dr. Bezerra, Intendente Municipal de Cachoeira, ordem para interná-la, como pensionista, descontando dos vencimentos do Secretário. «Tive a Mariinha lá, como pensionista.» Dizia, sem soberba, sem seus gabos, lá por dentro, nunca visível, a sua glória. Nhá Porcina, nha Rosa, as mães lá debaixo, que moravam do lado esquerdo do chalé, s6 escutavam, opinião atrás da língua. D. Amélia tinha tido aquela menina na cidade em mão do doutor, em cama de hospital? Muito que bem. Invejar não invejavam. Ninguém tirava da cabeça delas que era muito arriscoso descansar assim, ter suas dores naquela cerimônia toda, os doutores carniceiros, a mão cheia de ferros. A própria palavra Maternidade no ouvido daquelas parideiras velhas de quase todo ano fazia desconfiar, pura invenção de branco, nome escrito no papel. Ter filho, sim, no modo velho, no antigo, vinha da primeira parição 78 de Eva. Crenças e defumações os antigos deixavam. Os antigos sabiam. As pessoas velhas. D. Maria dos Navegantes, nhá Bernarda, estavam ali, no alcance delas, de mão benzida, os simples preparos, conheciam nossas barrigas. suas manhas, emperreio de criança lá dentro, a gente podia se fiar e Deus de cima olhava. Descansar assim, em casa da gente, fosse em riba da tábua, esteira, jirau, era um sossego que não trocavam pelas finuras e brancuras do hospital. Se por um suposto, vem a infelicidade no dar a luz, ficava por conta da Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vontade de Nosso Senhor, tinha de ser. Agora fosse imaginar, me põe na cabeça, calcula essa infelicidade dentro dum hospital, entre estranhos, a infeliz na mão mais crua dum doutor com o seu anzol pescando a criança dentro da criatura, na triste pedra, ninguém da família, me faz essa idéia, ah por demais cru, façam uma idéia!
Tudo isso afastava aquelas mães da Maternidade de Belém, os doutores sem nenhum respeito e na mão deles, como um peixe que se abre e escama, a pobre, sem saber se tinha as dores ou a vergonha, com cada vergonha, Santa Casa? Escuta-se as estórias. De Santa só o nome: corriam em penca, mesmo até de arrepiar, as mortandades, a defuntaria que era a Santa Casa. Em vão que a d. Amélia se cansava de explicar: Mas eu, filhas de Deus, descansei lá como pensionista, por pagamento, sempre tem uma regalia. E na verdade, contava, viu, não mentia, o que era ter filho, lá, como indigente, lá em baixo, pede a Deus que não te aconteça.
Pelo bem que queriam à d. Amélia, as mães da vizinhança não lavavam o peito, no gosto de se acharem com razão, mas sempre falavam: pra todo aquele luxo ela foi. sim. Depois? Quando acabar, criou a menina? Como foi que se viu a Mariinha no colo? Tão mirradinha, a pele de chegar ser um vidro. Quando que aquilo que se criava, meu Menino Jesus! Nem de sete meses. Sim que engordouzinho um tempo, a mãe dizia: estou ou não estou criando? Que eu crio, crio. A ilusão. Criou? Tão do céu era que no que deu a febre, lá se foi a criação, adeus, meu anjinho.
79 Leônidas, agora apressado, o chamava. Mas, que se despedia do conhecido, este emendou o adeus num assunto novo e tudo recomeçou. Deus! Alfredo invejou: que tinham de conversar, que conversavam? Ali, naqueles assuntos, era a cidade que ele não sabia, os tempos de Leônidas no Umarizal, «os mais velhos» conversavam, seguros de seu falar, do que faziam e aconteciam, quando ele, Alfredo, ali, tão incerto, meio desapontados quase traído, sentia-se.
Por fim entram na Curuçá, caindo um chuvisco de asneira, luz nenhuma na rua, o caminho encharcava. A uma brusca entrada de rua, Leônidas parou:
— Aqui, aqui se entra.
— Aqui? Mas isso aí dentro?
Alfredo, de olhar inteiro no alfaiate. Este, surpreendido, não entendia, tinha saído tão contente da conversa. lavando a alma por encontrar um amigo que não via há tantos anos, ah, como lhe fazia bem, rever pessoas, reabrir velhos assuntos, era um mudar de casca...
— Como é? Não entra? Muito escuro? Não tem receio, vais comigo.
— Não, não, não é medo. Mas tem de passar por aí para chegar lá?
— Lá onde?
— Lá, ora...
— Na Cecé? Na Celeste? Mas é por aqui, é aí dentro.
— O que que é aí dentro, tem de passar?
— Não te entendo, Alfredo, a gente entra, sim. Se está muito escuro, a gente amanhã reclama no jornal. Vamos tirar esta roupa molhada logo. Entra ou não entra? Quer entrar pela outra boca? Mas tem que dar atrás, rodear, quebrar a Bernal do Couto...
Mas pra ir para lá, precisa mesmo passar por aqui, entrar aqui? Por esta, por outra boca?
— Meu filho, é aqui, nesta, nesta Passagem, aqui que Celeste mora. Por esta, por aquela boca, o caminho vai dar lá, na Celeste, o teu Grande Hotel, meu viajante. A Inocentes.
80 — Inocentes?
— A Passagem dos Inocentes, sim, onde tu vais morar. Celeste mora. Pra onde vamos.
Leônidas, num riso curto, bateu os sapatos, praguejou, tinha estragado o lustro, pago no macarroni do Ver-o-Peso. Mordendo o beiço, pegado na lama, Alfredo olhava. A Inocentes? A Passagem? Mas d. Cecé lá na Areinha, não dizia que nome de Passagem se dava em Belém a trechos calçados, que ligavam ruas, como aquela entre São Jerônimo e Nazaré, a Passagem Amazônia, a Passagem Mac-Dowell?
— Mas não é a Passagem Mac-Donald, Leônidas?
— A Mac-Donald? Ah, o inglês? Celeste imagina muito, é. Queres tirar a lama do sapato? Só lá chegando, se tira. Perdi o lustro do meu neste semelhante calçamento.
Ao cruzarem a entrada, a vala se escancarou, uma goela que podia levar os dois pelos porões da terra, até lá em baixo, nas casas sepultadas. Casas? Ali na boca se via um palhame grosso, arrepiado, encharcado. Da barraca do canto, a porta entreaberta, um balcão, ou que seja, e da meio escuridade sai um sujeito alto, cobrindo-se com uma capa de soldado, cambaleou, pigarreou, «lá vou pro mundo, esta lama» rosnou. Alfredo não ouviu o que o sujeito dizia mais. O encapado tomou distância, atolava-se, cambaleava, desfez-se num vão da Passagem. Leônidas acendia o seu cigarro. Caminhavam. A luz bem diminuída do poste, enterrada na lama, a ponta do pau, que nem um dente, ria. Encontraram-se numa espécie de largo, a mangueirona pesando de escuro e chuva, uma trave de futebol, e logo a Passagem se estreitou, buracos, valas, capinzal, foram na ponta dos pés cozendo-se pelas paredes das bibocas para evitar o encharcado. Leônidas segurou-lhe o braço.
— Não esmorece, caminhante, o tempo é que está danisco. Foi a figuração da Cecé. Aquela minha senhora irmã. E tu não sabias? Sim, lá no Muaná, ao certo não se sabe, Cecé lá é uma coisa, aqui é outra. Cecé, lá, disto nunca diz. Oculta. Sabias?
— Sabia.
Leônidas sentiu a mentira mas animou-o:
81 — E então?
Alfredo tentava desviar-se da lama. O pau, na vala, com o seu único dente, embora já lá atrás, a modo que o seguia aqui na frente, o dente rindo. As palhoças penduravam seus beiços de palha por onde escorriam os gatos miando. E chovendo em cheio em cima dos viajantes os carapanãs num zinido, em grosso, disparavam de todos os lados. Na alumiação do outro poste, bem ao pé, um fio d’água fazia viagem, rodeando um envelope meio enterrado que Alfredo, por súbito interesse, se abanando contra os carapanãs, se abaixou, lendo o sobrescrito: Para a gentil senhorita Maria da Glória Amanajás. Passagem MacDonald, 18, Cidade de Belém.
— É meu fraco, este meu, engraxar o borzeguim. Gosto. Mas nesta lama, ai que carapananzal! É carapanã, é sapo, é gato, a banda de música da Inocentes nos recebendo, companheiro...
Encafuado em si mesmo, sob o chuvisco, Alfredo mal andava, se abanando. Entrava-se pela Curuçá, passava-se por ali, saía-se onde? A noite, muito baixa, espremia no escuro o palhoçal, comia aquela população ali entocada como sapo. Uma e outra míngua de claridade por baixo das portas, das frestas. fugiu pelos buracos da parede. E se dali voltasse, corresse a se agasalhar na Rui Barbosa nem que fosse para dormir no cimento da sala, ao, pé da porta, a cabeça em cima do cano d’água? E aqui o poste, cadê luz? Dali em diante, sem um clarume, que-que era que não se enxergava? Onde? Porta de inferno, te abre, te apresenta, casa do são nunca.
Leônidas quis pegá-lo pela mão, guiá-lo, ele se arredou, rejeitou o amparo, metendo então bem fundo o pé, sapato e meia, no lamaçal. Arrancou a perna como se a trouxesse podre, esmagada, cheia de bicho. Esta não era a lama de Cachoeira, das beiragens de rio, a gostosa lama do igarapé na vazante, com os siris por cima, uma pele de sol cobrindo, não, não era. Gaguejou nomes, batia o sapato... Leônidas o segura. Fugiu deste, a lama na perna, os bichos lhe subindo, mandava a d. Celeste, a casa dela, o estudo, a cidade para as profundas. Miaus dos gatos sucediam-se como uma vaia em meio dos carapanãs, estes agora menos. Nunca que se acabava semelhante caminho? Até onde, até onde, 82 ou este Leônidas, nas suas conveniências, quer primeiro levá-lo onde melhor apeteceu, casa de rapariga, lugar de suas cachorradas, como dizia o pai no chalé, sendo um noivo daquele, noivo de nunca mais se casar?
Alfredo, de repente, pensou em Andreza, ih! esta, agora vendo-o naquele valei-me Nossa Senhora, na lama, miaus e mosquitos, como não ia rir, e rir de cima de seu tapuio, de seu cavalo, de seu búfalo, de seus campos lavrados de sol e vento... Mas de Andreza logo passou para Libânia e Antônio, ah, fosse com estes dois, aí sim, caísse a casa de Nazaré, se abrisse em lodo a Passagem dos Inocentes, estavam os três juntos, que se riam, pintavam, correndo a cidade, varando os escuros de Belém, e mais que houvesse, ele, o livro debaixo do braço, Antônio, com os sonhos e Libânia com as suas muitas coisas bem de dentro dela.
Na casa da gente a gente é rei. A gente é rei. O pé pesava, o sapato uma bolsa de lama, e lama lhe escorria dentro do peito. De repente. a palavra para aquilo tudo:
Covões, Covões. O juízo lhe diz:
Dois de Dezembro era chão do Umarizal, dando ares para Curuçá, esta rua que Alfredo nunca ouviu dizer. Umarizal muito falado, Por ali, pelos tempos de «boi e «pássaro», quando vinha buscar o seu montepio, d. Rosália Saraiva, mãe de Lucíola, arrastava o seu chinelinho. Uma outra cidade brotava? Não voltando para Nazaré nem pra casa das primas na Rui Barbosa, noutra Belém pisava então? Sim, no Muaná, a mãe bastou avisar: se prepare, que você volta, volta no «Zéfiro». Já mudei o punho de sua rede. Agora me chegue lá no Ver-o-Peso, me vã, me pele de novo a cabecinha, de vez em quando me amarrando o cordão do sapato, não me desatrapalhe o punho da rede e quanto tiver uma ferida na perna, não me lave não bote pomada... Parece que estou vendo... Que não és tio bimba, o meu tio bimba, isto eu sei, és é o pai, o bom do teu pai. Até que peço que o espírito da nha Lucíola te acompanhe. E por enquanto se agüente lá, que remédio.
Mais não disse, mais não explicou, passando a ferro os dois fatos do escolar. Lá. La-la-la. Bole bolacha bole em cima bole embaixo, soprando o ferro, cantarolando. Cantou que cantou. Como tinha de seguir, ela e o Major, para Cachoeira, o filho foi ficar em casa das irmãs, aguardando a partida do «Zéfiro», As irmãs, estas, bem oferecidas. «Se acostume com o cominho», brincou a mãe. Teria dê esperar uns dias mais, o «Zéfiro», na recalafetagem, queimando o casco por via de bicho. De madrugada. em companhia do Major, ela embarcava, de volta para o chalé, Ninguém na Areinha a não ser o tio carregando a bagagem, Alfredo, na ponte pública, por que este desassossego? Coisa a perguntar! Poder lhe pedir: Mamãe, ali atrás do armário, Satanás se esconde, aquelas garrafas lá, a senhora quebra? Quebra, sim, por amor de Mariinha, pelo filho afogado, pela amizade da Dorotéia? Por causa daquelas garrafas, fugiu naquela noite, atrás dele saiu Lucíola, conheceu Edmundo, por quem se matou, de quem a principal culpa? Alfredo estremecia a pensar nisso, pensar confuso, e queimando-lhe o rosto subiam os faróis do campo que procuravam Lucíola. As garrafas, quebre, mamãe. Muitas vezes, via as garrafas de gargalo feito uma 72 cara, lhe atirarem rolhas, lhe esguicharem cachaça, tornando-se bojudas, garrafões de repente, saltando no armário. atrás da dispensa, num ruído de rato e zombaria. Viu. num sonho, a mãe rodeada pelas garrafas, estas numa ciranda em que os vidros tiniam, as rolhas espoucavam, o esguicho da bebida levantava o telhado do chalé. Logo cobras corais, dentro das garrafas, a língua fora do gargalo, sumiam para que da espuma, lá dentro da cachaça, fosse, aos poucos, desenhando a Figura, o Rabo, os Chifres de Fogo, as asas de Morcego, a língua de labareda, a dentuça amarela do Cão de onde escorria a baba a encher novas garrafas ali de repente, estas correndo num rodar de carroussel até a rede onde a mãe dormia. Alfredo, desinquieto, pensava nessa figuração e sonho das garrafas, agora no embarque da mãe. Ou então beba um pouquinho, o seu gole, mas na vista de todos, beba como bebia a d. Marcelina, como as velhas bebem, cada careta engraçada no beber, cuspindo pro lado. cachimbadeiras, cuspideiras grossas, beba assim, como certos velhos ao pé do balcão, já coçados, que bebiam tão sério, que nem o padre no vinho ao pé do altar. Mas lá no escuro, num glute-glute escondido e logo gritando pela Maninha com um fogo saindo pela boca, olhar e pé incerto no soalho? Ali na ponte, ao pé dela, o remorso lhe ferrou: não podia deixá-la na mão daqueles pequenos e pequenas que traziam as garrafas debaixo de pano, dentro de paneiro forrado, pelos fundos do quintal, entre as estacas, horas velhas da noite, e depois iam rir dela no algodoal, na beira do rio, roendo as roscas que compravam com os tostões ganhos. Andreza, não, esta, coitada, errava pelas fazendas. Ai, Andreza, tu, nunca mais? Era dever seu voltar com a mãe, quebrar aquelas garrafas, já no chalé, varrendo da porta e do quintal os guris das garrafas? Sente a cicatriz da antiga ferida na perna tratada pela mãe, as perguntas na garganta, enquanto que ela, bem embarcando, bem longe estava, nem seu sousa. Ela não via nem não notou um sinal daquilo que mordia por dentro dele? Em arrumar os seus paneiros de camarão, a bagagem, só nisto ela se ocupava? E a pressa de despachar o irmão: vai, Ezequiel, vai lancear teu camarão, não te pego, rapaz. E olha, quanto te der na cabeça, fecha a tua igreja, vai rezar uma ladainha lá no chalé, vai que te arrumo um casamento. E aquele 73 muito do impossível, o Sebastião, lá no Rio de Janeiro? Nem um bilhete, nem um retrato para a tampa do meu açucareiro espantando as moscas. Lá um dia me aparece, te aparece, o mesmo da pororoca e da espanhola. Ah, Ezequiel, não te falei, nem te digo, o que o Sebastião fez com a filha do espanhol dentro da igreja! Só dentro da igreja? Muito mais! Diante do altar, então que aumentaram as línguas, aquelas de Cachoeira. Oh igreja de má fama, aquela! Só depois eu soube, Sebastião é o teu avesso, meu irmão. Mas tem que ser assim numa família... Ou não somos uma família? Que você acha, hein, seu Alberto? Sebastião, aquele-um? Fede a enxofre, credo cruz, mas eu, tu, Ezequiel, que estás aí com cara de quem ouviu a voz do diabo, se benzendo, todos nós, basta que ele apareça, a gente arreganha o dente e lá estamos todos nós nos pés do Malazarte. Vai, Ezequiel, não te pego. Ainda está na hora de lancear, ah eu, noutro tempo, meu tempo... Ah eu neste rio, lanceei que enjoei. Lanceava, sim, as águas mortas, lua minguando, camarão dando que era uma safra. Tu te admira, Alfredo? Também apanhei turu no mangue. Adeus, Ezequiel, manda um camarão de vez em quando, do teu, meu escasso. E se até outro ano eu não der o café, eu volto.
Foi o tio partir, ela abençoou o filho, lhe deu uma palmadinha na testa, ligeirinho logo entrou na «Borboleta» e tudo assim tão de repente, como não era de esperar nem desejado, que Alfredo ainda balbuciou: Mamãe... se engasgando, num calafrio, ardeu-lhe a cicatriz, como se voltasse a sangrar, coçou, metia a unha na própria mágoa, na ferida funda. Lá estava ela na popa da lanchinha, ao lado do pai, cuidadosa de seus panemos. O Zequinha armou a rede do Major, virou a roda do motor, uma, duas, três vezes, não pegava, vira de novo, pegou, parou, pegou de novo, cresceu o barulhinho da «Borboleta» espantando a lanceação das beiragens. Num instante, sumiu na dobra do estirão a luzinha da popa, o estirão engolindo a «Borboleta». No rio, foi um silêncio! Voltavam as luzes da lanceação. Então Alfredo se deu que estava só, só-só. Correu um pouco, defronte da igreja, olhou os restos da ornamentação, o lixo da festa morta, assustou-se: a manga despencou da mangueira. Só. Lá se iam os dois embora. Só. Pelo rio, para o 74 chalé, era como ir para um confim, E este receio, sentir-se só, por que, por quê? Dentro dele, as garrafas boiando, se batendo, como dentro d’água? Cheio das vozes da mãe, por quê? Que-que tinha? Que-que tinha? Dele os dois levavam não sabia o que era, a surpresa daquela festa do tio na Areinha, o sabor do terreiro, o beijo que a mãe esqueceu de lhe dar? Não ter tido aquele beijo por demais lhe doendo, lhe doía. Suficiente um. Um só. No que ela fosse beijando ficaria encabulado, muito. Depois, sim, é que ia, bem-bem devagar, sentindo aquele beijo. Não deu, por distraída? Entretida com o tio? Saudades do tio Sebastião? Pensava em Cachoeira, a sede das garrafas? Não deu. Custava dar? Dava na Dorotéia, nas primas, nelas da Areinha... Mas, ora, ah, não deu, melhor, com pouco mais não estou um homem? Importa um beijo? Não deu, não deu, acabou-se, Qual das mães é a mais minha, esta que fica, sem corpo nem voz, ou aquela que foi?
Caiu na rede, sala do pai, embalo miúdo, sono nem sombra. Na alcova, a ceguinha tossia. Ou a tosse dela era chamando para conversarem? «Como foi?» Ela assim sempre indagava. «Como foi?» Tão indagadeira quanto a Dorotéia sereneira, no dizer da mãe. Mas só dentro da alcova, quando saía, sala, varanda, cozinha, janela, era quietinha, sem língua, uma luz, por dentro dela, aparecia.
Do seu embalo impaciente — voltava a doer-lhe o beijo perdido — quis descer, ver a irmã, contar como foi que os dois embarcaram, a bagagem toda cheirava a camarão frito. Camarão do Muaná, camarão do Araquiçaua. Ligou os dois no mesmo sentimento, na mesma estória que teria de contar à ceguinha, não contou, agora arrependia-se. No Arari, no Araquiçaua, onde Clara se afogou, águas do velho remeiro Barnabé, camarão cobria a mesa do seu Raimundo Reis, o caladão, o Napoleão de Santa Helena metido no Araquiçaua, criando bode,. dizia o pai. Seu Reis tinha um porte antigo, a mão por dentro da blusa cerzida, saudoso de sua antiguidade, das guerras que não fez. No Araquiçaua, jantar, viu camarões na mesa, com caldo, assados cheirando, muitos, aquela altura deles na travessa de barro, as demais pessoas comendo. Não, não como desse camarão, me faz um mal, dá de novo a febre, esta recolhida aqui comigo, que tenho, faz mal comer, que bons que estão, não? 75 Posso? Mas faz mal mesmo?» Os comedores descascavam os assados, e o molho, o sal na boca, os camarões sumindo, e eu neste medo, não, não, me faz mal, esta febre, ela só está esperando que eu ao menos prove, camarão é um veneno, todos disseram. Ficou foi só casca de camarão na mesa, as pessoas se regalaram, o Napoleão chupava lento as ultimas cabeças, lambia os dedos com marcial cerimônia, depois ajuntou os restos e atirou ao porco que comia roncando gostoso, ali cevado, se adormecendo no coçar da mão do antigo guerreiro. E foi que nesta noite, lhe deu a febre, talvez febre de arrependimento, por não ter se regalado, camarões que nunca mais. Camarão do Araquiçaua, beijo da mãe, adeus que voltavam. Embalava-se. A mãe disse: E se até outro ano eu não der o café... Ela já pensa morrer? Morrer!?
Pudesse, não chorava, pois chorar era entanguir a pessoa, dificultava o crescimento para rapaz. Embalar se embalava. Para desencravar a unha da mágoa, melhor mesmo descer do embalo, tocar na rede da ceguinha, cadê jeito? Chegarzinho perto... era que era uma légua e meia... A ceguinha tossia, tão perto que fazia ficar mais longe. Mais fácil ir até o chalé, acompanhar a «Borboleta», no rio, no Marajoaçu, canal, o Laranjeiras, entrou no Arari, aqui o Araquiçaua, esta ilha, o Itacuã, o Mutá, a dobra do estirão, a Folha Miúda, o chalé um tanto carrancudo, e lá dentro a satisfação das garrafas na dispensa sabendo que iam meter de novo nos seus gargalos a inocente que chegava. Mais custoso era dar aquele passo para junto da irmã e dizer, o rosto alisando o punho da rede, eh, eh, ererê, dormindo? Te contaram já a estória do lilás?
Do lilás, não. Causo de cego, não. Outra, alegre, dos engraçados do cinema, as estórias do Antônio e da Libânia, as adivinhas da Magá. Ou por puro falar: tem luzes no rio, lanceiam. Vai que vai haver camarão. Já é bem de madrugada.
Que era bom de madrugada bem baixinho conversar, ouvindo um galo longe, bem que era. Era como surpreender uma coisa que nunca nos é permitido ver nem ouvir nem imaginar, agora em nossas mãos. Ficava então dali da rede conversando: a irmã na alcova, para esta nunca o dia clareava. Dormia? As silenciosas palavras pelo ar, dela 76 e dele; coisas pelo ar as pessoas, sem o uso da língua, conversavam, faltava era saber ouvir, ter a atenção que têm os bichos, peixe, pássaro, onça, coruja, as plantas, e passar a limpo as questões no caderno. Lembrou a conversação antiga com aquele peixinho no chalé, noite em que Maninha se queimou. Ou por esta lembrança, ou o receio das irmãs noutro quarto, não desceu, ficou pelo ar, o silêncio levando e trazendo às palavras, dele e dela. Mas lhe parece ver — agoniada imaginação — ver a mãe inclinar-se devagar sobre a rede, aqueles seus dentes numa alvura, roçar-lhe os lábios no rosto, o cheiro da mãe, um pouco de tabaco, um pouco da mãe mesma que se entranha no filho, o sossego do rosto dela lhe untando os ferimentos.
Teria dormido? Acordado as irmãs? Alguém na sala? As irmãs dormindo? Que se sabe de uma criatura por dentro principalmente no sono?
Quando o pai, de regresso a Cachoeira, apanhou o chapéu e disse da porta para dentro: Bem... Ó da cozinha... vieram as duas com a bandeja do café, ligeiras, pés de sumaúma, falando baixo, compassado, seus aventais. Tomaram a bênção, ligeiras, piscando. Alfredo jurava ter visto nelas um alívio pelo pai ir embora. O pai dava ou não dava o seu trabalho? Fazia fazerem janta, o cafezinho das duas da tarde, armar e desarmar rede na sala, tira e põe o servidor ao pé da rede e o queimar raiz no fogareiro para espantar os bichos, receber visitas, o lavar prato não aumentava? Tinham que abrir as janelas da frente e sempre um mais agora, outro à tardinha, não cansa? Vinha ou não vinha desarrumar aquele sosseguinho tão delas? Natércia, sobretudo, seu piscar miúdo, na hora da despedida, satisfeito, era dizendo: se desenviúve por lá um bom tempo, papai. Alisando as mãos no avental, arregalava mais os olhos, não escondia. Letícia, sempre aveludada, só fazia sorrir para o irmão, sorria, a modo que de tudo aquilo que acontecia e não acontecia, de bem e de mal, uma boa graça achava. Um e outro instante, logo contido, pareceu assim como se dentro dela saltasse um repente de sair voando madrugada fora... Por último, sem ser guiada, veio a cega, o rosto de adormecida, e o pai, breve no abençoar, numa vaga pressa, Todos tinham pressa? Major e chalé, de novo se uniam, na «Borboleta», menos o filho que ficava. 77 De todas as mães que era, de novo a sina daquela só, na dispensa escura, boca nas bocas das garrafas, no restilo do Cão? E o pai? Ali no quarto misterioso, teria mesmo, como uma roupa de cerimônia, se recolhido a viuvez?
No largo da Santa Luzia, Alfredo foi andando, levado, agora, pela recordação daquela viagem a Belém, quando a mão veio ter a Mariinha na Maternidade, o pai doente da garganta no risco de operar, tempo da influenza. da guerra acabando. Foi em outubro, Círio de Nazaré, ele, muito zinho ainda, cheio de visões e aflições na Bernal do Couto, ali fronteira do muro do hospital, desaguando no largo. A mãe naquele casarão a ter Mariinha. Em verdade, teve, como se fosse sem parteira nem doutor, o suficiente ter sido no meio daquelas penugens alvas, sua cama, seus travesseiros, seus lençóis, as fronhas, o termômetro, aventais, louça, mão e rosto de freira, tudo em pluma de garça, silêncios, incenso, a sineta chamando para a missa na capela, grito, cheiro, choro daquela parição de quanta mãe. Lá vinha a mãe saindo debaixo dos algodões, gazes, irmãs da Maternidade, trazia no rosto um negrume enxuto, bem descansada, contando dos caldos, da maçã comida, das canjas branquisossas, o resguardo em tanta alvura. A mãe na Maternidade! O pai conseguira do dr. Bezerra, Intendente Municipal de Cachoeira, ordem para interná-la, como pensionista, descontando dos vencimentos do Secretário. «Tive a Mariinha lá, como pensionista.» Dizia, sem soberba, sem seus gabos, lá por dentro, nunca visível, a sua glória. Nhá Porcina, nha Rosa, as mães lá debaixo, que moravam do lado esquerdo do chalé, s6 escutavam, opinião atrás da língua. D. Amélia tinha tido aquela menina na cidade em mão do doutor, em cama de hospital? Muito que bem. Invejar não invejavam. Ninguém tirava da cabeça delas que era muito arriscoso descansar assim, ter suas dores naquela cerimônia toda, os doutores carniceiros, a mão cheia de ferros. A própria palavra Maternidade no ouvido daquelas parideiras velhas de quase todo ano fazia desconfiar, pura invenção de branco, nome escrito no papel. Ter filho, sim, no modo velho, no antigo, vinha da primeira parição 78 de Eva. Crenças e defumações os antigos deixavam. Os antigos sabiam. As pessoas velhas. D. Maria dos Navegantes, nhá Bernarda, estavam ali, no alcance delas, de mão benzida, os simples preparos, conheciam nossas barrigas. suas manhas, emperreio de criança lá dentro, a gente podia se fiar e Deus de cima olhava. Descansar assim, em casa da gente, fosse em riba da tábua, esteira, jirau, era um sossego que não trocavam pelas finuras e brancuras do hospital. Se por um suposto, vem a infelicidade no dar a luz, ficava por conta da Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vontade de Nosso Senhor, tinha de ser. Agora fosse imaginar, me põe na cabeça, calcula essa infelicidade dentro dum hospital, entre estranhos, a infeliz na mão mais crua dum doutor com o seu anzol pescando a criança dentro da criatura, na triste pedra, ninguém da família, me faz essa idéia, ah por demais cru, façam uma idéia!
Tudo isso afastava aquelas mães da Maternidade de Belém, os doutores sem nenhum respeito e na mão deles, como um peixe que se abre e escama, a pobre, sem saber se tinha as dores ou a vergonha, com cada vergonha, Santa Casa? Escuta-se as estórias. De Santa só o nome: corriam em penca, mesmo até de arrepiar, as mortandades, a defuntaria que era a Santa Casa. Em vão que a d. Amélia se cansava de explicar: Mas eu, filhas de Deus, descansei lá como pensionista, por pagamento, sempre tem uma regalia. E na verdade, contava, viu, não mentia, o que era ter filho, lá, como indigente, lá em baixo, pede a Deus que não te aconteça.
Pelo bem que queriam à d. Amélia, as mães da vizinhança não lavavam o peito, no gosto de se acharem com razão, mas sempre falavam: pra todo aquele luxo ela foi. sim. Depois? Quando acabar, criou a menina? Como foi que se viu a Mariinha no colo? Tão mirradinha, a pele de chegar ser um vidro. Quando que aquilo que se criava, meu Menino Jesus! Nem de sete meses. Sim que engordouzinho um tempo, a mãe dizia: estou ou não estou criando? Que eu crio, crio. A ilusão. Criou? Tão do céu era que no que deu a febre, lá se foi a criação, adeus, meu anjinho.
79 Leônidas, agora apressado, o chamava. Mas, que se despedia do conhecido, este emendou o adeus num assunto novo e tudo recomeçou. Deus! Alfredo invejou: que tinham de conversar, que conversavam? Ali, naqueles assuntos, era a cidade que ele não sabia, os tempos de Leônidas no Umarizal, «os mais velhos» conversavam, seguros de seu falar, do que faziam e aconteciam, quando ele, Alfredo, ali, tão incerto, meio desapontados quase traído, sentia-se.
Por fim entram na Curuçá, caindo um chuvisco de asneira, luz nenhuma na rua, o caminho encharcava. A uma brusca entrada de rua, Leônidas parou:
— Aqui, aqui se entra.
— Aqui? Mas isso aí dentro?
Alfredo, de olhar inteiro no alfaiate. Este, surpreendido, não entendia, tinha saído tão contente da conversa. lavando a alma por encontrar um amigo que não via há tantos anos, ah, como lhe fazia bem, rever pessoas, reabrir velhos assuntos, era um mudar de casca...
— Como é? Não entra? Muito escuro? Não tem receio, vais comigo.
— Não, não, não é medo. Mas tem de passar por aí para chegar lá?
— Lá onde?
— Lá, ora...
— Na Cecé? Na Celeste? Mas é por aqui, é aí dentro.
— O que que é aí dentro, tem de passar?
— Não te entendo, Alfredo, a gente entra, sim. Se está muito escuro, a gente amanhã reclama no jornal. Vamos tirar esta roupa molhada logo. Entra ou não entra? Quer entrar pela outra boca? Mas tem que dar atrás, rodear, quebrar a Bernal do Couto...
Mas pra ir para lá, precisa mesmo passar por aqui, entrar aqui? Por esta, por outra boca?
— Meu filho, é aqui, nesta, nesta Passagem, aqui que Celeste mora. Por esta, por aquela boca, o caminho vai dar lá, na Celeste, o teu Grande Hotel, meu viajante. A Inocentes.
80 — Inocentes?
— A Passagem dos Inocentes, sim, onde tu vais morar. Celeste mora. Pra onde vamos.
Leônidas, num riso curto, bateu os sapatos, praguejou, tinha estragado o lustro, pago no macarroni do Ver-o-Peso. Mordendo o beiço, pegado na lama, Alfredo olhava. A Inocentes? A Passagem? Mas d. Cecé lá na Areinha, não dizia que nome de Passagem se dava em Belém a trechos calçados, que ligavam ruas, como aquela entre São Jerônimo e Nazaré, a Passagem Amazônia, a Passagem Mac-Dowell?
— Mas não é a Passagem Mac-Donald, Leônidas?
— A Mac-Donald? Ah, o inglês? Celeste imagina muito, é. Queres tirar a lama do sapato? Só lá chegando, se tira. Perdi o lustro do meu neste semelhante calçamento.
Ao cruzarem a entrada, a vala se escancarou, uma goela que podia levar os dois pelos porões da terra, até lá em baixo, nas casas sepultadas. Casas? Ali na boca se via um palhame grosso, arrepiado, encharcado. Da barraca do canto, a porta entreaberta, um balcão, ou que seja, e da meio escuridade sai um sujeito alto, cobrindo-se com uma capa de soldado, cambaleou, pigarreou, «lá vou pro mundo, esta lama» rosnou. Alfredo não ouviu o que o sujeito dizia mais. O encapado tomou distância, atolava-se, cambaleava, desfez-se num vão da Passagem. Leônidas acendia o seu cigarro. Caminhavam. A luz bem diminuída do poste, enterrada na lama, a ponta do pau, que nem um dente, ria. Encontraram-se numa espécie de largo, a mangueirona pesando de escuro e chuva, uma trave de futebol, e logo a Passagem se estreitou, buracos, valas, capinzal, foram na ponta dos pés cozendo-se pelas paredes das bibocas para evitar o encharcado. Leônidas segurou-lhe o braço.
— Não esmorece, caminhante, o tempo é que está danisco. Foi a figuração da Cecé. Aquela minha senhora irmã. E tu não sabias? Sim, lá no Muaná, ao certo não se sabe, Cecé lá é uma coisa, aqui é outra. Cecé, lá, disto nunca diz. Oculta. Sabias?
— Sabia.
Leônidas sentiu a mentira mas animou-o:
81 — E então?
Alfredo tentava desviar-se da lama. O pau, na vala, com o seu único dente, embora já lá atrás, a modo que o seguia aqui na frente, o dente rindo. As palhoças penduravam seus beiços de palha por onde escorriam os gatos miando. E chovendo em cheio em cima dos viajantes os carapanãs num zinido, em grosso, disparavam de todos os lados. Na alumiação do outro poste, bem ao pé, um fio d’água fazia viagem, rodeando um envelope meio enterrado que Alfredo, por súbito interesse, se abanando contra os carapanãs, se abaixou, lendo o sobrescrito: Para a gentil senhorita Maria da Glória Amanajás. Passagem MacDonald, 18, Cidade de Belém.
— É meu fraco, este meu, engraxar o borzeguim. Gosto. Mas nesta lama, ai que carapananzal! É carapanã, é sapo, é gato, a banda de música da Inocentes nos recebendo, companheiro...
Encafuado em si mesmo, sob o chuvisco, Alfredo mal andava, se abanando. Entrava-se pela Curuçá, passava-se por ali, saía-se onde? A noite, muito baixa, espremia no escuro o palhoçal, comia aquela população ali entocada como sapo. Uma e outra míngua de claridade por baixo das portas, das frestas. fugiu pelos buracos da parede. E se dali voltasse, corresse a se agasalhar na Rui Barbosa nem que fosse para dormir no cimento da sala, ao, pé da porta, a cabeça em cima do cano d’água? E aqui o poste, cadê luz? Dali em diante, sem um clarume, que-que era que não se enxergava? Onde? Porta de inferno, te abre, te apresenta, casa do são nunca.
Leônidas quis pegá-lo pela mão, guiá-lo, ele se arredou, rejeitou o amparo, metendo então bem fundo o pé, sapato e meia, no lamaçal. Arrancou a perna como se a trouxesse podre, esmagada, cheia de bicho. Esta não era a lama de Cachoeira, das beiragens de rio, a gostosa lama do igarapé na vazante, com os siris por cima, uma pele de sol cobrindo, não, não era. Gaguejou nomes, batia o sapato... Leônidas o segura. Fugiu deste, a lama na perna, os bichos lhe subindo, mandava a d. Celeste, a casa dela, o estudo, a cidade para as profundas. Miaus dos gatos sucediam-se como uma vaia em meio dos carapanãs, estes agora menos. Nunca que se acabava semelhante caminho? Até onde, até onde, 82 ou este Leônidas, nas suas conveniências, quer primeiro levá-lo onde melhor apeteceu, casa de rapariga, lugar de suas cachorradas, como dizia o pai no chalé, sendo um noivo daquele, noivo de nunca mais se casar?
Alfredo, de repente, pensou em Andreza, ih! esta, agora vendo-o naquele valei-me Nossa Senhora, na lama, miaus e mosquitos, como não ia rir, e rir de cima de seu tapuio, de seu cavalo, de seu búfalo, de seus campos lavrados de sol e vento... Mas de Andreza logo passou para Libânia e Antônio, ah, fosse com estes dois, aí sim, caísse a casa de Nazaré, se abrisse em lodo a Passagem dos Inocentes, estavam os três juntos, que se riam, pintavam, correndo a cidade, varando os escuros de Belém, e mais que houvesse, ele, o livro debaixo do braço, Antônio, com os sonhos e Libânia com as suas muitas coisas bem de dentro dela.
Na casa da gente a gente é rei. A gente é rei. O pé pesava, o sapato uma bolsa de lama, e lama lhe escorria dentro do peito. De repente. a palavra para aquilo tudo:
Covões, Covões. O juízo lhe diz:
Covões.
COVÕES
COVÕES
Era. D. Inácia, a madrinha mãe, desse derradeiro, triste-triste grau de se morar falava, ferrando o dente, nos seus acessos, o olho cor de faca bem lixada em cima da filha: Não sei se a Deus ou se ao Diabo deves agradecer, desgraçada, estar morando aqui na Gentil e não lá nos Covões dentro da bosta.
— Leônidas, isto aqui não é o Covões? É?
Nisto, como resposta, o berro, perto, do ovo escuro ali do vão, de emboscada: É a lama, e eu, Herodes Sardanápalo!
Leônidas desconhecia o homem.
— Leônidas, isto aqui não é o Covões? É?
Nisto, como resposta, o berro, perto, do ovo escuro ali do vão, de emboscada: É a lama, e eu, Herodes Sardanápalo!
Leônidas desconhecia o homem.
83
Anos atrás na fuga a bordo
Anos atrás na fuga a bordo
Aquele fim de baile a bordo, semelhante noite, teria podido adivinhar? Sua intuição sabia? Quase é a mesma vertigem, ainda hoje, também por saudade, por desespero. No seu peito, aquele porco, um caititu, devorou-lhe a razão, o sentimento? Ah repente sem socorro, tamanho redemoinho.
Saía de bordo muito suada para mudar em casa — ali defronte — as roupas, ou tomar banho? e com certa delicia de andar só, aquela hora, no sereno, fruindo-se a si mesma. Tentava tirar de si um desgosto, ou raiva, ou simples gastura contra Antonino Emiliano, Este, pois não inflamou o pé, perdendo o baile? Entra em casa sem ruído, varou o silêncio, escuro, do casarão, mudou a roupa, meio entretida ao espelho na sombra, mais com o efeito do vestido que o rosto, saboreando o estar bem só, com as músicas de bordo, a insistência do comandante e dele, esquiva e quase curiosa, mas sem um pressentir; assim na sombra, neste vestido, uma outra pareço? É o sossego este, aqui fora, em mim nem tanto. Pelo sossego levada foi até o quintal — por que foi? — Quem a levou? desceu, espiou, escutava, e de repente, recua, avançou, um rumor, gente? um gemer? onde, onde, ali debaixo das bananeiras? Porco? Carneiro? E mais um passo dá, não, não, não é o que vejo, o que ouço, não via o que via, pai do céu, meu Deus, me deixe soltar meu grito, antes lhe tirasse a vista, mea Santa Luzia! Virou o rosto, como se alguém lhe tivesse cuspido, outro instante a ver e ouvir e cega, surda, ficasse, 84 num vôo estava no corredor. Debaixo das bananeiras, O grito não soltou, o ah! ah! engasgado, lhe abria, petrificava a boca, gelou o peito, os pés lhe prendeu, zonza, cozida na ombreira da porta, agora no terror de fazer bulha, era? Que se passou, Celeste, que se deu, que estás cada vez mais gelada, tiras os sapatos, enfias o rosto entre dois travesseiros, logo te calças, corres do casarão escuro, incerta, meio espavorida. No caminho da casa do Antonino Emiliano? Recuas, ainda tonta, ou mais, vontade de vomitar, nisto a música do baile a bordo, lá está no trapiche o vapor iluminado. Sentas na quina da calçada da igreja e rompes num choro lento, de menina, a menina que desta vez saiu de ti para sempre, as mãos entre as fitas do vestido branco, com as fitas enxugas o rosto. Depois, boquiaberta, na sombra da mangueira, sem saber o que fez, o que fez, a cabeça no chão, ou debaixo do chão, queres entrar na igreja. Fechada, Queres bater os sinos para anunciar aquilo que te parece um horror? As bananeiras cobrem a igreja, as folhas fecham o rio, debaixo das bananeiras o bode e a cabra, o porco e a porca, sem ser vista viu. Sabia. Cravou os olhos nos dois de focinho com focinho. Que viu, viu, sabia ver, tinha boa vista, estavam a um tiro de espingarda. Debaixo das bananeiras. E esta lhe parecia a sua mais bela noite e já perdida. O namorado, que ia dançar com ela pela primeira vez, à vista de todos, as duas famílias consentindo, deixa que a aranha, no mato, lhe ferrasse o pé. Picado por aranha choca, a ferrada, por isso, dói que dói muito mais. No baile não pode ir. E Celeste foi, mais por raiva contra Antonino, por não perdoar-lhe a ida no mato, que por gosto. Eu bem que disse a ele: hoje tu não vais correr no mato, guarda teu pé, te lembra de amanhã. nosso primeiro baile e a bordo. Antonino deu de ir, foi. descalço, atrás de tala para a gaiola. A aranha, das chocas, não perguntou, marcou o pé, ah queimadura! ah que inchou! adeus o par no baile a bordo. Assim, Celeste, dançou por dançar, sim, dançar gostava, negar podia? Nunca se proibia nem consentia que Antonino lhe proibisse. Mas lhe deu de sair de bordo onde quente estava, ir àquela hora, o luxo de mudar roupa, espairecer na noite, sozinha por um gosto: ao menos entrasse falando alto, pisando forte, batesse numa cadeira, cantasse como cantava.
85 Ergueu-se da raiz da mangueira, sentia o sereno, já menos aturdida. Aranha choca. A ferrada rebentou não no Antonino, aqui dentro, não foi o pé, fui eu. Aquele casarão, ali defronte, de lepra se cobria, debaixo das bananeiras, os porcos na cama; correu para a bordo, como se fosse partir, o navio a largar, deu o passo no portaló, o tempo de ser puxada e a cintura enlaçada e aquele primeiro rodopio no salão, e valsa em cima de valsa, era eu dar um suspiro o meu par suspiro e meio, agora longe-longe das bananeiras, voava. Invisível o cavalheiro, a dama levava o seu baile para o meio do rio, soalho macio era a maré agora seu salão, onde se banhava aquelas tardes tio ontem: no mergulho, abria os olhos para ver nem que fossem os próprios sonhos, suas mãos nadadeiras, as coxas e seu rabo de mãe d’água, aquelas tardes de tanta moça nua na enseadinha do rio, felizes até a boquinha da noite brincando juju nadado e mergulhado, quando então as mães vinham chamar ou mandavam as empregadas e os meninos gritar seus ralhos — olhem, meninas, candiru se enfia por dentro de vocês, suas acesas do diabo! — Lá bem longe na sombra do rio, passava uma embarcação de pescadores, rapazes da vila, e seus gritos deles homens caíam em cima delas como se já fossem os próprios em pessoa, e os bandos de periquitos e japiins no aturiá onde, entre ninhos, pendurávamos a roupa? No soalho d’água borbulhando de cardumes, dançava a sua valsa de peixe, espuma e sementes. Meu cavalheiro agasalha os camarões no meu cabelo e piso os remansos com os meus sapatos brancos. estes chegados de Belém no «Deus te guarde», aquele dia justinho para o baile e lá me vou, Cecé, com o meu vestido de ar, os peixes me atando as fitas, eu volteando nos rebojos e correntezas do rio, lá me vejo em cima dos miritizais, na testa alva de capuchos da sumaumeira, em volta daquele pescoço comprido do açaizeiro cacheado que sempre se vergava, muito galante, diante de mim; lá me vou eu pras as fazendas, valsando sobre igapós, lagos, cemitérios dos índios, em meio do laço no ar que os vaqueiros me atiravam, cobrindo com a roda do meu vestido branco e a chuva de minhas fitas os grandes brabos negros búfalos do cerradal. Valsando em cima das malhadas adormecidas e do sono e faro das onças e logo, entre os bandos de garças, com o penacho 86 do gavião real no coque do cabelo, os ventos ariscos da baía do Marajó debaixo de minha saia; enfunei minhas plumagens e meu cavalheiro, faço o meu baile nas águas grandes montei naquele cavalo freio de prata e crina dourada que sobe as alturas de Monte Alegre, o navio subindo. Manaus. Solimões, o comandante, comandando nesta roda de leme que é este meu corpo, o navio feito escaler dos serafins do Círio de Nazaré, as cidades com seus arraiais embandeirados e suas enchentes de rio, as vilas cheirando a febre e a baunilha, os portos de lenha, castanha e um São Bendito esmolando, o urro dos bois na maromba e o silêncio dos caçadores no só Deus quem sabe do mato, o lodo e a aninga desovando ilhas no calor das marés e no cavalgar dos peixes-boi, a rabuda arara carregando no bico a cauda do vestido de baile, o baile da Celeste Coimbra de Oliveira, família de nome no Muaná. Voando me vi, cega entrei, caindo no camarote, pesada de suor e da vertigem.
Nunca ela soube nem ninguém ou quem souber que explique. Mal sobre ela se fecha a porta da cabine, a mil léguas, a mil anos da terra, da família, de si mesma. o tempo esvai-se, como se o navio só estivesse esperando que ela entrasse no camarote e logo largando por conta própria, varreu o baile do salão, jogou n’água o baile inteiro, o telegrafo soou, um apito precipitado, longo, breve, tão dentro do camarote e morrendo tão longe, o resfolgo da máquina, algo confuso, estrangulado, pressentido, suposto, como adeuses, apitos, a banda tocando no trapiche, foguetes, de repente tiros, os gritos da mãe, da família, de Muaná, de mim mesmo, Celeste, olhando o olhar de Antonino Emiliano, de pé inchado, na escotilha — pára, pára, esse vapor, tapa o rio! — e o braço de Antonino Emiliano me apanhando como pegava o pássaro tem-tem fugido da gaiola e tudo subitamente se escoando num silêncio, a brusca, escura solidão onde Celeste se despencou, suada e gelada, a bordo do «Trombetas».
Dum sono é que não tinha acordado, não. Duma embriaguez? Nunca bebia e o que provou a bordo foi um licor, bem inocente, das mãos da Maria do Céu lá da Ilha. Ou lenço que cheirou? Lança Perfume? Também não. O miolo em volta? A palavra do homem? Tinha mesmo era 87 acordado do baile a bordo dum fantasma, este navio, que agora navegava silencioso, silencioso como se viajasse dentro da boiúna, a cobra. Ou ela se sentia tão zonza surda assim, de não ouvir os movimentos do vapor, trancada na cabine? Seu vestido de asas já não era mais que uma tarrafa com o peso de seus chumbos e ela dentro, como um peixe, as fitas espalhadas no beliche que nem escamas e sua mão tremia escrito aquele passarinho que apanhou debaixo da goiabeira, comia goiaba, balado foi, logo expirou. Mas tudo era ainda a vertigem, o vôo do tempo, aquele braço na cintura, a mão do comandante, segurando esta roda de leme, e o vento que lhe fecha em cima das costas a porta do camarote, prendendo-lhe por fora as pontas das fitas. Foi o homem que me atirou ou eu que o fiz atirar-me aqui? E que dirá o homem quando voltar e abrir a sua cabine e que farei eu, meu Deus, e ele ao ver-me aqui, à mercê dele, sem socorro, nua nesta tarrafa com seus chumbos, nua em pele e em alma? Via-se no espelho, ali na primeira claridade do dia, parecia do espelho a luz que entrava. Era o seu rosto, era? Antes o próprio medo em pessoa que um rosto, ainda menos o dela com uns beiços derretidos de estupor. Medo, tanto, que lhe inchava as pálpebras, com aqueles cabelos não mais dela, malucos, os grampos caindo. E seu olhar, que até mudava de cor, perdia o seu jeito de ver. Embola a frente do vestido, cruza os braços sobre os seios que lhe doem. Põe a mão sobre o coração, como se fosse nele encharcando a mão bem fundo. Sim, agora, ela escuta dentro do peito é o próprio navio, a bater a sua máquina, revolvendo com a hélice as entranhas. Coração, te desembesta, leva o vapor a todo fogo, queimando esta lenha e este carvão que carregou naquele trapiche atrás da casa, embaixo das bananeiras. Seu coração? Mas a modo que este-um fugia do peito. lhe dizendo: não estou mais aqui, Cecé, não sou mais morador desta casa, deste poço, não fui eu que te atirei neste perau. Meu lugar é no Muaná, na enseadinha do rio, na casa dos azulejos, nos encontros antigos, proibidos, com Antonino Emiliano; ou quando sozinha, sentada no último degrau da escada do trapiche, rente d’água, fazias de conta que viajavas. Tinhas pelo Amazonas aquela curiosidade bem inocente, que ainda não tiveste pelo Rio, pelo Sul, só 88 mais tarde pela Inglaterra por causa do navio inglês a Muaná chegado. E vias no teu mapa a frota dos teus gaiolas Solimões acima, o vento te trazendo dos castanhais os ouriços da tua safra, as tuas plantações de guaraná de onde ouvias a voz dos índios chacinados, e dos teus seringais vazando leite sobre os porões, aquelas tuas estórias e viagens, tão presentes no teu tempo de menina, que diziam das fortunas e desfortunas, dos vestidos de Paris e dos flagelados do Ceará, brinquedos da Alemanha e os curumins defuntinhos no banco das canoas, artistas de Portugal e assassinados do Acre, Manaus nadando em champanha e no sangue dos seringueiros, tudo tão longe, de nunca se apagar, embora apagado para sempre. A visão, essa, do Amazonas, colhida na infância, nunca se desprendeu dela. Nos teus sonhos atracavam os navios cheios de tucanos e araraúnas, .no caboame saltavam os macacos, nos porões cresciam os caranás e lá do fundo, espiando, os sucurijus gordos. Mas seu coração lhe dizia ainda: agora, nesta viagem, quem te bate aí dentro, não sou eu mais, quem te bate aí no peito, é um porco do mato, um caititu daqueles que te assustaram tanto na fazenda, peiados, espumando contra os cachorros. Teu coração não sou mais. Teu sangue já não corre mais em mim, que esse teu de agora, me seca, me põe cinza. Sou daquele do anel, te lembra, te lembra. Boa e bem menina, eras pernuda, roedora de unha, mas mijavas, de má, em cima das plantas de tua mãe. Uma noite, brincando de anel, meninos e meninas. na vez de dar o anel, Celeste a quem logo deu? Foi roçar na palma da mão do segundo menino, aí soltou o anel e gaguejando: .... não diga nada a ninguém» tão assustada, sem voltar mais ao seu lugar, a culpa em pessoa, na ilusão de esconder-se nas costas de uma colega, e as meninas ,estas, gritando: ela deu o anel foi pro Antonino, o anel está na mão do Antonino, isso é um puro namoro. mas ah! Espera que d. Teodora vai saber. Cecé roeu sua unha, saiu da roda, beliscou duas, olhou-que-olhou feio para o Antônio Emiliano que devolvia o anel, chorou escondido, uma semana mal-de-morte com ele. E que aflição quando o Antônio Emiliano caiu de catapora! E aí- foi que ouviu da irmã: mas, .tu, Cecé, és uma arara. Olha, eu, que fosse eu, eu dava o anel, ficavazinho quieta, correndo a 89 roda toda, bem com a mea cara seca. Nessas coisas, minha amorosa, a gente se disfarça, uai! Ah minha irmã Idalina, eras tu que devias ter visto o que vi debaixo das bananeiras, tua esta passagem no «Trombetas», tua esta vertigem.
No camarote, descalça, arrastando o vestido de baile, agora de chumbo. Baile, Antonino Emiliano, bananeiras, o instante do vôo, descosiam-se, misturavam-se. A modo que só ela só viajava no navio, trancada na sua fuga, partindo para aqueles lugares imaginados e desejados quando menina. Navio visagem? Ah, era. Ria-se, queria rir mas rir alto, um rir rouco. Não contavam desses navios, de moças embarcadas sem saber como, sem nunca mais se saber delas? As velhas tão verdadeiro contavam, cheias de uma tal razão, jurando pela luz divina, não queriam ter salvação se mentiam. Podiam também acreditar que ela, Celeste, era, agora, a escolhida desta viagem, viajante do navio boiúna, a moça que sumiu de um baile a bordo no porto do Muaná, aparecendo na baía de Marajó, naquela carruagem de ouro puxada pelos cavalos marinhos. Por que então descrer de um malefício? De alguém que fabrica o mal, tempera a inveja na vingança? O mal, enfim, de mim mesma, que está em nós, no nosso âmago? Podia ter chegado em cadeia o malefício. Primeiro na teima do Antonino, de buscar tala, depois o pé do rapaz, à noite o repente dela de ir em casa àquela hora mudar roupa e sucede que sem a menor necessidade desce o quintal e ouve um grunhido. Porco? Carneiro? Sapo? E olha para o lado das bananeiras, olha, depois da visão, outra revelação mais que uma praga, e olha, e em vez de correr ou gritar, correr para a casa do Antonino Emiliano ou dos parentes, corre para o vapor, embuchada com o seu grito, e logo à sua espera aquele braço que a puxa para dentro... Não era? E lhe vem o horror de sentir-se traída ou roubada ou rejeitada pelo porco, aquele das bananeiras, não e não, mas por que sentiu? por que abriu a veia e nela gotejou também esta peçonha? Certo é que dois dias antes um espelho se quebrou no quarto, sete anos de atraso, o primeiro começou?
Experimentou a porta do camarote, fechada a chave por fora. Bateu sem força, como voluntariamente entregue àquele encantado terror, recuando e voltando, alisa e ampara 90 a cabeça na porta. Deita-se, embrulhada no vestido. Ou a assombração havia se dado unicamente em si mesma? Teria bebido a peçonha que a cobra, aquela, guardara na folha, enquanto, debaixo das bananeiras matava a sede?
De pé, sentiu-se mais alta, mais magra, as veias do pescoço ao toque da mão salientes. O vestido, velho bastou uma noite, pesava. Cheirava a baile, que baile? Aqueles cheiros para sempre deixados, o odor de sua adolescência no quarto de onde lançava, como pistolas de fogo de vista, os sonhos sobre o mundo; cheiro, suspiro e ressono das irmãs ao lado, as ervas de molho recendiam pela madrugada, o cheiro das bananeiras... O vapor, neste momento, fazia sentir a sua máquina, soturno. Puxem a carruagem, cavalos do mar, (as velhas contavam), me leva, carruagem; não de ouro mas de breu fervendo, esta carruagem puxada pelos porcos, os. dois porcos debaixo das bananeiras. E este cheiro de vapor, cigarros, ali o dólmã, aquele foto de crianças, filhos dele? Tudo aqui é a presença do desconhecido, do habitante desta solidão. E ali pendurada uma plumagem dos índios. Meu Deus, estou mesmo viajando? Aonde? Ainda ontem tão da casa dos meus pais, Celeste Coimbra de Oliveira, tão Cecé. É verdade que seus sentimentos para com Antonino Emiliano perdiam um pouco daquele fervor, aquela obstinação, caiam em quase súbito fastio, um pouco desapontada? Bem-bem, não sabia. Tiveram consentimento para saírem juntos, conversar, dançarem. Como recebeu a comunicação dada pela mãe? Num vago espanto, essa surpresa, que queria tirar de si, de que seriam dois a mais na roda do namoro no arraial e no trapiche. Antonino Emiliano, por isso, se despia daquelas qualidades que ela pressentia ou imaginava nele e o toque do proibido e do risco para sempre deixaria de soar. Quantas vezes, no mesmo baile, ficavam separados nem se olhavam. Dava-lhe repente de atravessar a sala, dizer: Vamos, Antonino, efetivo comigo. Ver quem vem nos desapartar. Ferrava os dentes, dançava, olhando pelo ombro do outro cavalheiro, o Antonino Emiliano pelos cantos. Ficava um pouco à espera que ele ousasse tirá-la... Só assim por um descuido, nas artimanhas, se entreolhavam; sim, iam os recadinhos mandados um a outro por mão e boca de amigos e amigas: pouca conversa com a Gilberta, que tanto 91 conversam? Ainda mais esse aborrecimento, te sossega. Um doce, escondido, ela mandava. Assim nos bailes. As duas famílias, ali presentes, se cumprimentavam cordial, com as delicadezas do velho ódio, desprezo, zombaria, muitos votos de mútua desgraça. Antonino e ela desfrutavam a comédia de não se falarem nunca, fingindo um fingimento que todos sabiam bobo. Lá fora, nas suas cautelas, fosse como fosse e onde, sempre se encontravam, que assim foi sempre desde menina. E veio, sem esperarem, o tal consentimento. Valia tão tarde? Depois de tanto vexame, fosse contar os sustos, tanto me esconde, esconde? O consentido é aborrecido? Esvaiu-se aquele encanto? Para agravar, Antonino Emiliano deu com o pé numa aranha choca. E só posso me explicar neste navio pelo . que vi nas bananeiras? Isto não é o bastante? Mas é uma explicação? Fugindo assim não me tornei cúmplice, não agravei tudo, calando o que escutei, vi? E se tivesse falado? Falar ou fugir, qual pior? Melhor não foi meu sacrifício? E será sacrifício este meu, ou minha soltura, não mais Coimbra nem Oliveira nem Cecé, só a Celeste? Vergonha menor? Ou simples sina, cumprida, desta vez diante do público, no maior grau, misturada de abusões e lendas, ao avesso da outra sina cumprida, grunhida, embolada debaixo das bananeiras? E esta, das bananeiras, quantos anos repetindo-se? Quantas noites no mesmo grunhir debaixo das bananeiras? Melhor será rir daqueles retratos no sobrado, poindo-se na sala, vissem o que atrás deles se escondia. Rir da vergonha da família no meio da rua, na porta do mercado, na boca do forno da padaria: Cecé fugiu feito uma qualquer ordinária. E o namorado retirando do pé os panos que a velha Inacinha besuntou e para que a benzedeira passe e repasse na inflamação o raminho de arruda, benzendo o azar também. E rir de si mesma e logo ao abrir-se a porta do camarote correr e atirar-me n’água, pronto, acabou-se. Entrasse agora o comandante, sua barba, a respiração, entrando, o primeiro passo e o olhar dizendo: minha filha, que remédio senão... Ali estavam as três crianças na fotografia. Que ponha o pé aqui dentro, digo-lhe que foi uma aflição que me deu, faltou o tempo de pensar, me mandasse de volta, me fizesse desembarcar numa beirada, prancheasse 92 numa ilha e aí saltar, ai me solte e me de febre, e se abram uns sete palmos de água, na minha cova de água, todas as horas me afogando. Me arrependi? Mas, e este alívio? Causei, estou causando, causarei vergonha, desgosto, pena? Arre! Meu pai, aquele sempre retrato, desprende-se do cabide, da beca, do seu silêncio? Não é um castigo? E assim viajando, oculto o mal maior. Aquela outra vergonha, que se presume secreta e por isso mais suja, em que toda a família apodrece por dentro, debaixo das bananeiras. Lá está o grunhido, os porcos atrás dos retratos na parede, sob as cascas de tinta. Antônio preferiu arriscar o pé no mato a dançar com a namorada no amém das duas famílias? Pois trate do pé e do logro. E quando se esboroou debaixo das bananeiras aquela ilusão de família, a casa dos azulejos amarelos, vertigem ou não, sina ou ordinarice minha, por certo de herança, só sei que me vi foi no braço do comandante. Aquela noite a bordo era a sua noite, que Antonino Emiliano não adivinhou, mas decifrada pelo comandante. Ia por a mão na borda e em vez do navio a mão do homem. fie devia ter lhe Visto o rosto transtornado, nos olhos dela a dura resolução sem apelo. O instante em que tudo é permitido, sua cegueira. sua fúria, o saboroso inferno. Antonino Emiliano, o pobre, este foi mais um no lixo amontoado debaixo das bananeiras com os velhos retratos em cima. E vem, aquela mão. aquele hálito de fumo, álcool, caldeira e tombadilho, de muita viagem e muito mundo, precisamente a voz da sua noite, a única voz que a chamava. E ela não dançava mais ao som da pobrezinha banda de música regida pelo maestro Samico seu bom compadre, antigo oficial da Força Pública. Os músicos, quase todos compadres da família, banda tão de dentro de casa, tocavam aquelas alvoradas nos feriados e dias santos tão saudosos que ela acordava tão alegre, um amanhecer que saía de dentro do peito, um acordar de passarinho; era na frente da Intendência, defronte das casas de família de posição e posse.
Ela já não dançava agora ao som de sua comadre banda municipal e sim ao som desta máquina no bojo da boiúna, a Deus ou ao Diabo se entregava. E onde esta baleia me vomita?
93 Não tivesse navio a seu alcance, aquela mão esperando, e teria saído correndo-correndo pelos caminhos por terra e igarapé, até onde as pernas iam, gritando para si mesma:
Celeste, onde estás, onde vais, ouve o jacurututu, olha o tamanduá bandeira, te lembra quando tu eras menina, fugias de raiva, te escondias no folharal e não demorava vinhas de lá aos gritos, sainha em riba até o umbigo, coberta de formigas de fogo? Assim estou agora, não mais menina, mulher.
... Ele dirá: Moça, vá pra casa, vou lhe desembarcar, lhe mando de volta.
Pobre mocinha eu como se inda fosse eu a mesma de Muaná, a inteira que fui, era, hoje, não. Eu devolvia, mandada de resto, recusada mesmo, depois desta viagem? Celeste, o comandante, depois que entraste, nem te tocou, desapareceu, sumiu. Inteira estou de corpo, sim, mas neste corpo não está mais a moça do sobrado, a Cecé que topou aquilo nas bananeiras, a Celeste que ia casar com Antonino Emiliano. E quem está em lugar dela, quem?
Logo que me viu no camarote, me deixou, me fechou. Saiu espantado da própria ação, de mim, do próprio espanto dele? Que importa, foi como se tudo tivesse acontecido. Neste caso, é mais pecado a intenção. Sim que o comandante foi cavalheiro, foi. Mas, afinal, esta coisa que me partiu espumou, berrou por dentro, pedia um cavalheiro? Fosse Antonino Emiliano! Que este, sempre, nos encontros, sempre queria se afoitar, forçar as duas famílias a não terem outro remédio senão casar-nos. Quantas vezes, não reinou e eu: Que te deu? Mas sossega, eh! Te enganaste com esta, rapaz. Tu não és Pelágio nem eu a Anália. Meu abraço? Meu beijo, A mão na cintura? Vá lá, não muito. Eu tenho muito juízo. O resto só marido e mulher, depois do véu e grinalda. Me acontecer feito Anália? Pois não era o próprio Antonino que contava? Antonino, de bocu, de palavra, gostava de me dizer das intimidades dele com os colegas,- fazia isso talvez, para que eu fosse amansando, achando natural, não acontecia com muita moça? Antonino, no que via, vinha contando, na maior cara lisa, esses homens! Me dava de. repente um tal 94 abor|recimento dele, não entrava no meu genio tolerar e ao mesmo tempo um prazer porque me considerava assim diferente delas e o meu namorado podia bem dizer, se orgulhar entre os amigos: essa, ai, que sete chaves! Rir, gabar-se, de mim, um não nasceu; rir como se riam das desafortunadas, aquela Anália? Anália. A pena que sempre me dá. Tinha o rosto bem composto, vistoso o colo, a cintura, a perna. Moça de família baixa, sim, mas sempre aceita nos melhores bailes, entrava pela porta dos fundos da sociedade, freqüentando altas famílias. Então foi o Pelágio chegando em férias, aquele rapaz de sua estampa e atrevimento, quebrava fraque em Belém, a apanhar o que queria com um leve aceno de mão, suficiente um olhar, uma palavra. E Anália vem e passa pelo olhar do acadêmico de direito e este apanha a mão da inocente, os dois efetivos no baile, os dois nos passeios de canoa, enfiando-se cerradal a dentro até vararem na praia, voltavam de lá cheios de mangabas, Anália com areia no pescoço, o par de cada instante, aquele cartão postal andando pela Areinha, beira-rio, debaixo das mangueiras, no luar. Eu quis correr: Te guarda, filha de Deus, que este-um aí, por dentro... Mas é meu bom costume não meter-me. Eu sei dizer que o Antonino Emiliano viu, foi uma tardinha, a canoa azul e verde do Pelágio, amarrada no paricazeiro, a maré enchendo. Debaixo do paricazeiro, aqueles dois na embarcação. Antônio Emiliano fazia que pescava, muito oculto, no seu casco debaixo dos cipós folhudos, perto das mamoranas. Logo recolheu o caniço, risca na maré, mais que depressa, para cruzar a canoa do Pelágio, antes que esta aproasse na beirada. Então, de pé, no casco roçou rente da borda da embarcação e viu: Anália, no banco, o rosto na mão, a saia ensopada como se tivesse se cortado. e no fundo da canoa, no meio das frutas do paricá um sangue. Pelágio fazia sinal para Antonino Emiliano: o que vês, não viste, bico-bico. Anália, esta, a cabeça era nas duas mãos juntas que tremiam. Anália, Anália, que ia até Belém nos melhores clubes com as altas famílias, com aquela sua boa parecença, uma cor de flor na pele, uma beleza de muita formosura. Tão manera no dançar, sempre dada, como se tudo estivesse ao seu feitio, que nem cana 95 de leme, pra onde a gente quer, ela vira, agora sangrando na canoa do Pelágio? Ah esta sangria comigo? Me levar na pescaria? Era, se eu fosse. Anália, a panema, caiu por sentir-se sempre demasiado feliz, de nunca saber seu preço, sua maciez de tão mansa, não era uma oferecida mas de nunca dizer não, pois se dar era sua índole, a doação em pessoa. Mas eu? Eu, bezerra dos rapazes na fazenda, égua mansa, eu Anália? Conhecer meu corpo só depois do padre e do juiz, aliança no dedo; mesmo assim, por uma vergonha, não deixo meu marido me ver intima na claridade, me depenar que nem marreca, me olhar como se avalia uma vaca, isso? Era uma vez, não. Essa de sair numa embarcação com Antonino Emiliano nem que me rogassem praga. Longe dela o paricazeiro. Então o seu mais secreto na água do fundo de uma canoa, vem um cachorro de beirada e bebe? Os outros, ali de parte, só apreciando o açougueiro sangrar a ovelha debaixo do paricá? Pelágio, este, noutra semana, rapaz de família, suas posses, seus estudos no sul, se botou, as pernas no mundo, comeu, adeus. Levada a Belém; Anália foi vista tamanhona da barriga. quem viu, viu ela ainda de ar espantado, as mesmas mãos no rosto, assim não contavam? Alguém que saiba, me de noticia de Anália, que esteja bem, quem me trás? Mas tanto me julguei, que me atiraram na cara aquelas bananeiras. no ouvido aquele grunhir e na folha esta peçonha que bebi.
O «Trombetas» navegava, real; as velhas do Muaná iam inventar que não. Anos depois, contariam da moça Celeste levada dum baile a bordo, agora na carruagem de ouro sobre as águas. Adiante, meus cavalos marinhos. O barulho do «Trombetas» era um silêncio a mais naquele geral silêncio em que os cavalos iam para o fundo e a carruagem virava espuma.
Celeste cabeceou, sono, cansaço, como é escuro lá em cima, dizia a pastora da velha estória ao limpador de chaminé. Só nos resta sair por esse mundo grande, dizia ela. Como é escuro lá em cima. E a estrela, quando vejo a primeira estrela? Mas eu, Celeste, não fugi com o limpador de chaminé, fugi só. O velho chinês de porcelana se quebrou. Aqui no escuro, oiço o lenço assoar do comandante e este cansaço ou cochilo onde a pastora salta; agora 96 é a noiva, de véu, em pé na montaria no rio; bolou do mangue. nasceu da maré, de pluma e pena de garça o vestido de noiva? Assim Anália sonhou: meu casamento vai navegar pelo rio. Do Muaná, depois do juiz, vou dar os doces na outra banda, na casa do meu tio Cipriano que sempre quis me ver de véu e distribuindo a grinalda na varandona dele onde pendurava os couros da caça e a tanga de barro que antigo adornava a vergonha da índia. Uma vez, luar, Anália saiu do quarto, em pêlo coberta no lençol, apanhou a tanga e se adornou, de repente uma tontura, sentiu-se enfeitiçada, puxada para fora, fugiu, espavorida, arrepiada, era aquela tanga? Anália assim contava sonhando tirar fotografia noiva de véu e grinalda na montaria bem no meio do rio, um botão ia depor debaixo da tanga de barro.
Ah Anália! Fossem tirar tua fotografia tu voltando do paricá, criatura!
Sono, este, cheio de Muaná, meu Deus. Das janelas do sobrado descem as serpentinas e confetes cobrindo as moças da calçada e entre estas a Anália de crepom, a saia de cambraia, um diadema e o saco de confete na mão da d. Teodora que enchia a janela com o seu colo e a sua chatelene. O rosto duro, de um gesso velho, o pai; parecia presidir um júri. Um instante estourou na mão da Anália a lança-perfume...
Celeste num sobressalto, (Em baixo a caldeira chiou, vai parar?)... A mãe emborcou o saco de confete sobre a calçada. O pai, um pau na janela, tão-só naquela tarde de carnaval, frente do sobrado. D.e máscara, coberta de pó e confete, Celeste subiu, correu:
— Doente, papai?
Um não dele com a cabeça e logo se apagando alcova adentro, ela atrás, lança-perfume na mão, a máscara no rosto, aturdida de carnaval e com aquele pai de luto ao pé da folia; logo um repente de chorar, atirar-se ao pai e dar-lhe um beijo ou puxá-lo para a calçada; se deu conta que estava gastando a lança-perfume e que podia chorar sem razão ou porque sentia no pai, na dureza de seu gesso, um querer ser beijado, ou abraçado, ou pedir... Não, 97 não sabia, Debaixo da sua máscara ,os olhos ardiam, a boca num espanto. Não, não sabia. Lá da calçada gritavam: depressa, Cecé, já vamos! A mãe, debruçada, tinha uma gordura festeira, de costas para a alcova. Celeste quis dizer-lhe... mas se viu puxada para a rua, a mãe, da janela, lançava a serpentina.
Por fora a mudez das coisas e em si mesma a baía no pior mau tempo que não caia no ar nem nas águas mas dentro, silencioso, no camarote. As vozes de Muaná, a cobra voltando a procurar na folha a peçonha, não encontra e saltando desvairada. este grito no peito, lhe rói a entranha, a visão e o grunhido nas bananeiras, este caitetu que morde e espuma. Vinha de fora uma luz d’água, aquela água de sete mil rios na baía, a luz das areias e palmeiras, o cinza-azul dos matos que longe flutuavam. O navio voava? Era como se o «Trombetas» respirasse, resfolegasse dentro de mim, andasse à força das pancadas do meu peito, eu a sua hélice. O “Trombeta” seguia para as atravancadas passagens e bandas de Breves, goelas fundas retorcidas pelo mato, a cilada dos rios largos na boca e engolindo navios nas suas tripas de lodo, fazendo subir pelos mastros da embarcação no fundo as cordagens de cipó e a tripulação das guaribas. Por que não vinha o comandante? Alguém abrisse a porta! Batesse. Alguém viesse. Neste medo, vergonha, agonia de abrir a porta, sair, aparecer no tombadilho, teria ficado só? Ou desmaiada, levada a outro navio, este, sim, da boiúna? Nem lavar o rosto posso. Estou outra, eu sinto? Perdi tudo, ou ganhei? Me perdi ou ainda não compreendo? Que fiz eu mesma de mim? Eu sei? Teria perdido a conta do tempo? Algumas horas me faltam na memória, desmaiei mesmo? Gritei o que vi, grunhi o grunhido das bananeiras, invejosa de não ser eu a porca daquele porco? Delirei? Tive febre, uma febre, a boca me azedou, me doeu, ninguém me tocou? Mas não devo bater na porta, nem gritar, me deixo ficar aqui na espera, não creio que demorem muito e eu sei que esta viagem me lavou, isto aqui me faz sair de mim uma outra pior que seja, mas outra, limpa daqueles retratos.
98 Aquietou quase satisfeita, imersa na solidão da viagem. Semelhante aquelas tardes no trapiche: fechava os olhos a tempo do sol esconder-se por trás da outra margem e aí abria; aquelas tintas derramadas, ela, e não a noite, ia devagarinho bebendo, seu rosto feito daquelas cores. Estar ali, um sossego, tardes e bocas da noite, beirando o rio, tabocais, num calafrio de curiosidade e temor, a esperar que acontecesse (e logo rezando que não) pisar numa folha onde dormia cascavel, ou cruzasse, de repente, um jacurututu. aqueles sapos, tamanhos, mijando um veneno nos olhos da gente, o tamanduá-bandeira assombrador, que rabeava pelo capoeiral vizinho, sempre a deixar rastro e nunca visto, a borrifar fogo das ventas e do pelo, devorando os teus e os meus remos de saúvas. De volta, em frente do sobrado, Celeste ouvia dá mãe:
— Foste com o teu balaio de formiga dar pro tamanduá?
Com a resposta na língua — é, fui, me comeu meu formigueiro — sabendo que a mãe aludia ao namorado, Celeste passava sem responder. Entrava no salão, quanto baile, o pai no retrato, um rosto de azeitona, as roupas de óleo e poeira, as tintas da família, aquele luzimento por fora, a casca dos quadros caindo no soalho levadas, pela vassoura para o fundo do quintal onde as bananeiras cacheavam. A mãe, também na parede, gorda de cor, o beiço de azinhavre, escurecia na moldura descascada.
Foi quando a porta lento abriu-se cheirou café apontou uma bandeja de pão e um marinheiro. Acuada, no mesmo vestido de baile, tão novo na fuga e já agora encardido, Celeste cobriu-se com as mãos, feito nua, crispada. Bandeja na mesa, o marinheiro saiu, a porta bateu, O pão e o café cheiravam a Muaná. Dos azulejos o amarelo da manteiga. O bico do bule fumegando lembrava o pai a encher a xícara... Vergou-se, endureceu no silêncio, chorar não. Longo tempo foi. Viajou por onde? Ponta do Freixal? Baía do Curralinho? Ilha do Capim? Nas ilhas de Dentro? Subindo? Descendo? Fechei a porta em mim, me guardo ou me agarro a uma porta que todo pensa 99 escancarada... Longo tempo. Até que viu, cravou as pupilas, como se tivesse entrado sem ter de abrir a porta, ali de pé o comandante.
Nisto, justamente, bateram na porta da barraca. D. Cecé saltou, assustada, das suas recordações, da fuga a bordo, desembarca um momento do «Trombetas» para acolher aqueles dois, o Leônidas e o Alfredo.
Surgindo do escuro, chuva e lama, Alfredo entrou num pasmo: como, assim em traje de baile ou passeio, empoada, tão moça... Era a dona daquela barraquinha mesmo que lhe abria a porta? Por um instante, nem a d. Cecé que passeava na Areinha nem a que esperava encontrar na Passagem dos Inocentes, Alfredo viu. Sentiu-se foi numa casa de Nazaré, levado por aquela aparição. D. Celeste fazia de conta que ali não morava, cheia de seus salões, viajando longe, acima. Alfredo no seu pasmo. Era ou não era a moça que fugia ainda a bordo do vapor «Trombetas»? Ou a d. Celeste da Passagem Mac-Donald?
Mas algo amarelo de camisão saltou do corredor escuro, cabriolou em torno de Alfredo, meio curvo — estava de papeira — examinando o hóspede abanando-lhe o camisão no nariz, a levantar a fralda até a cabeça e sempre em volta de Alfredo. Este num novo pasmo, sem mais aquela d. Celeste que lhe abrira a porta, agora com esta, de verdade, que ralhava, sem ralhar, com o filho:
— Mas, Belerofonte, meu filhinho, tu te aquieta. É o teu primo. O filho do tio Alberto, Belerofonte!
Fazendo careta, apanhando o camisão, cuspindo pro lado, o amarelo deu um salto de sapo que fez Alfredo recuar até a parede.
— É da preta? Da preta, não? Só do pai? Pariu só do pai?
— Belerofonte!
Com um olhar que se divertia e se compadecia ao mesmo tempo, D. Celeste conteve o filho, abraçou-o num ralho mimado. Alfredo no terceiro pasmo. Enquanto lá 100 pelos fundos da barraca, já o Leônidas, a boca entre as estacas da vizinha, chamava a d. Romana e esta de seu fogão, gritando: sape! sape! sape! com os seus gatos, parecia esconjurar.
II
Sem esperar pela chegada de Alfredo, d. Celeste tinha se vestido para ir a uma novena na Curuçá. Choveu, não foi. Ficou vestida, curando a papeira e as manhas do filha que cedo adormeceu. O marido havia saído. Voltou ao espelho no quarto, se empoou de novo — lá fora chovendo sempre. Dentro, pelas frinchas, molhando o soalho, chovia também. Abriu a mala dos vestidos velhos, a mala da viagem, fechada a chave, a mala de Muaná, a chave guardava no oco do Santo Antônio do pequeno oratório. Vestidos uns bens novos, outros fora de uso, e aqueles que sempre guardou ,os de antes da viagem. Vestidos de Muaná. Veio o de rendas, recordava um baile nos Albuquerque; este de folhas lhe trazia um passeio com o pai, durante o passeio o pai nem uma palavra; e os vestidos de Muaná. Vestiu o de rendas, recordava um baile de um Muaná perdido, como se em cada um encontrasse a Celeste que pudesse preferir ou substituir, por um instante, por esta da Passagem. Apanhou aquele azul: ainda estava bem nela, sim que fora da moda. Este azul... com ele, fingindo ir na ladainha da d. Esmeralda, peguei foi aquele caminho cerrado do Atuá, um sapo-coró dentro dum pau, um porco me espantou e no escuro, o cigarro aceso, me esperava o Antonino Emiliano. Diaszinhos antes do consentimento das duas famílias, antes do baile a bordo. Celeste examinou o vestido, ver se ainda tinha a nódoa do lacre, que no Atuá dava muito; assim de azul, naquela noite, muito escuro, sentiu no Antonino um repente... Ela um passo atrás, quis correr, foi preciso que ele rogasse. Celeste, não, te juro... numa voz de culpa e desculpa. Mas sempre gerou um receio, um tanto afastou-se dele, num simples conversar, vendo o cigarro aceso, que queimava rápido, queimava a boca do rapaz. Umas corujinhas, não 101 feio, até brincalhonas, mexericavam. Assim Celeste teve o seu último encontro secreto. Aqui ficou neste vestido. Neste — no peito o pano já se esgarça — se acaba a moça de Muaná. E era também como se tivesse levado aqueles vestidos a bordo, na sua fuga, colando em cada um o selo da viagem. Fechou a mala, folheou o álbum, folheando antes a lembrança da fuga a bordo que ainda agora lhe dá vertigem terror encantamento, na qual se tranca, alheia à barraca, ao marido e filho. «Não fiz esta viagem como era pra ser, dele tinha que voltar outra, que não sou eu.» Voltar sem nenhum vestígio daquela de Muaná, aquela do sobrado e do pé de Antonino Emiliano. Não voltaria nem esta nem a da fuga a bordo, saindo de ambas a terceira, filha da navegação, a Celeste daqueles confins, que não se desencantou. Voltou a que sou eu, não mais de Muaná nem da viagem, perdido o sobrado e o navio, outra, sim, mas deste buraco.
Reconstituía a fuga a bordo segundo seus caprichos e preferencias, «como devia ser» ou «era pra ser», enchendo se de «se fosse assim», «se fosse assim», «se tivesse sido». Viaja de vários modos, rumos e contratempos, corrigindo, modificando acontecimentos. Alguns pedaços perdiam a nitidez, esfumavam-se, Celeste passava a reaver com a imaginação os fragmentos perdidos, como se neles quisesse captar o melhor de sua aventura. E isto lhe dava a surpresa e o sabor de um momento vivido agora. Até que ponto a viagem a bordo se tornava ideal, ou quase irreal, um pouco misturada do que acontece, não acontece e podia acontecer, já não sabia. A partir daquela fuga, refazia a sua vida anterior ao «Trombetas», de menina e moça, agora revista e reconstituída, segundo a viagem. Sabia que foi a bordo que descobriu o seu verdadeiro mundo e logo perdido, onde vislumbrou um caminho e logo desfeito, um fio que apanhou e no mesmo instante lhe fugiu sem nunca mais encontrar no labirinto. A bordo, viu o sinal do próprio sonho, aquela tocha de santelmo, azulada e esverdeando no mastro do «Trombetas», acesa pelo pampeiro que veio caindo na baía. Ah, fogo que não queimou o navio, vento que não carregou comigo.
102 Para Celeste, a viagem, de tão poucos dias, era, na sua vida, o seu tempo de mais rica e misteriosa duração. Levava, agora, meses, anos, recolhendo, instante por instante, o feixe daqueles dias a bordo. Navegava não mais como foi de verdade. embora na mesma sensação de arrebatamento e mistério. Dela aqueles longes e aqueles navegantes, unicamente dela o navio.
Reconstituía a fuga a bordo segundo seus caprichos e preferencias, «como devia ser» ou «era pra ser», enchendo se de «se fosse assim», «se fosse assim», «se tivesse sido». Viaja de vários modos, rumos e contratempos, corrigindo, modificando acontecimentos. Alguns pedaços perdiam a nitidez, esfumavam-se, Celeste passava a reaver com a imaginação os fragmentos perdidos, como se neles quisesse captar o melhor de sua aventura. E isto lhe dava a surpresa e o sabor de um momento vivido agora. Até que ponto a viagem a bordo se tornava ideal, ou quase irreal, um pouco misturada do que acontece, não acontece e podia acontecer, já não sabia. A partir daquela fuga, refazia a sua vida anterior ao «Trombetas», de menina e moça, agora revista e reconstituída, segundo a viagem. Sabia que foi a bordo que descobriu o seu verdadeiro mundo e logo perdido, onde vislumbrou um caminho e logo desfeito, um fio que apanhou e no mesmo instante lhe fugiu sem nunca mais encontrar no labirinto. A bordo, viu o sinal do próprio sonho, aquela tocha de santelmo, azulada e esverdeando no mastro do «Trombetas», acesa pelo pampeiro que veio caindo na baía. Ah, fogo que não queimou o navio, vento que não carregou comigo.
102 Para Celeste, a viagem, de tão poucos dias, era, na sua vida, o seu tempo de mais rica e misteriosa duração. Levava, agora, meses, anos, recolhendo, instante por instante, o feixe daqueles dias a bordo. Navegava não mais como foi de verdade. embora na mesma sensação de arrebatamento e mistério. Dela aqueles longes e aqueles navegantes, unicamente dela o navio.
103
Caminho do Barão
Caminho do Barão
I
Agora livre de Belerofonte, na janelinha da barraca, Alfredo viu na lama da Passagem um cavalo solto e galopeando, relinchou desembestou palhoçal adentro. Um e outro carrinho de bucho passando fazia entrar o cheiro das tripas e do bobó. Aquele carvoeiro de carvão de lenha, vergado e noturno, voltava para a sua choça, com o seu carro de mão, parecido mesmo das minas aquelas da Europa (era da França?), de que falava o pai no chalé. O carvoeiro expectorou longo, um tempo cabisbaixo, ao pé do carro de sacos rente da portinha de cancela. Que-que tirava de dentro de si, antes de se recolher? Carvão, carvão há de ser, falava a velha na estória do lilás. Carvão, em que podia ter ficado o corpo da Maninha se queimando aquela noite no chalé em cima d’água: carvão, a cor de sua família por parte da mãe, que a da parte do pai, ser da família deste, era e não era. Defronte, aquelas barraquinhas desengonçadas, de cara aborrecida, uma de um azul aguado, a estrelita no alto, com uma ponta quebrada e outra sustentando a armação dum papagaio de papel, E no quintal de estacas no chão, de onde saía um pé de peitos de moças, um macaquinho de cheiro na corda pulavazinho triste na vara de roupa. De tanto olhar, ou cismar, ou se aborrecer, ou não saber como se livrar de Belorofonte, ou sentir saudade do que atrás ia deixando de si mesmo, Alfredo se indagava: estou aqui ou num rio? Mas que rio? Pela 104 toiça de açaizeiros quase no meio feito ilha, as estivas sobre a lama na entrada das palhoças, sua escuridão, sua soledade, nunca uma rua era tão rio como esta Inocentes, um sozinho rio que a lonjura engolia, aflito na voz dos bichos, com um caboquinho num casco de bubuia, assim tão largado. que dele nem Deus sabia. Rio onde d. Celeste prancheou seu navio? Se escondeu das suas pobrezas? Por isto escondia também, lá em Muaná, o seu endereço certo de Belém. Lá, passava a festa de dezembro no resto do sobrado, que lhe coube por herança, com o resto de seu orgulho, do que já teve a sua família, uns grandes em Muaná. Lá em Muaná, só por alto se falava: D. Celeste morava na Mac-Donald. Avenida? Rua? Passagem? Travessa? Praça? Nome novo? Até a Dorotéia, que, no descanso de sua cozinha, corria Belém, do Curro Velho ao Arsenal de Marinha, do cais ao Entroncamento, não tinha idéia da Mac-Donald. Mas Muaná nunca maldava sobre a Mac-Donald e Areinha fazia fé que d. Celeste morava bem. Só uma e outra vez para a mãe, d. Celeste falou, de boca cheia, Alfredo ouviu: Mac-Donald, Passagem Mac-Donald.
E aqui, de lama e palha, Belerofonte e bucheiro, era dos Inocentes a Passagem Mac-Donald. Assim o colégio, tão sonhado, feito de conta no jogo do carocinho na palma da mão, colégio ao pé da montanha, em cima da vista do mar, o colégio era uma vez. Já nem mais na Gentil, adeus Nazaré, Belém para quando, de novo, se isto aqui nem é mais Belém? E o caminho do Grupo Escolar Barão do Rio Branco, na Estrada Generalíssimo Deodoro, antiga Dois de Dezembro, já de Nazaré bem comprido, era agora muito mais. Por essas tantas coisas, é que Alfredo cada vez mais se encolhia na sua casca de pinto, sem nunca sair dela. Nem sino tinha mais, o sino da Gentil nem o toque da cometa no 26. Adeus calçadas debaixo das mangueiras que desatavam suas sombras pelo meio da rua com os bondes dentro: adeus mão alisando aqueles roxos azulejos dos sobrados da Quintino, adeus botões de campainha macias de apertar, maçanetas de porta, mãos de ferro maciças pesando 105 boas de bater babababá! com toda força e fugir, se esconder atrás da mangueira e escutar a velhona de óculos lá do alto da janela, babando fúria: «Foi o cão que bateu. O cão, te esconjuro. Se tem carrocinha de pegar cachorro, falta uma de pegar moleque. Foi o cão, credo cruz!» E de detrás da mangueira: «quem bateu foi a tua morte, coroca!» o Antônio respondia, os dois voando Nazaré acima. Adeus criadas barbadianas de azeviche sotaque e chapéu. altas como mastros do Divino; adeus ver a linda senhora ao telefone da padaria, de aliança no dedo, falando tão proibido; janelas onde se penduravam tapetes nas manhãs de sábado e delas parecia descer os gansos e as caixinhas de música que deixou de ter no padrinho Barbosa e no chalé, Adeus janelas à tardinha com as moças nas suas almofadas pendurando os braços, o colo, seus pescoços e suspiros, na hora de passar o bonde, rodar devagarzinho nos muitos carros o bom casamento, o bom enterro, ou a pé tocando dobrado a banda dos bombeiros; de vez em quando um braço acenava um adeus a quem ia no elétrico ou se estirando para apanhar as rosas que chegavam ou rendas ou embrulhos de loja, e daquelas cabeças soltavam-se jasmins, colhidos na calçada pelos molequinhos descalços e entre eles, sem saber como, com sua vergonha e pressa, este seu Alfredo. Assim na hora de deitar, mal sentia Libânia dormindo, pronto, ele ia, enfiava na cabeça da adormecida aqueles murchos jasmins das moças janeleiras de Nazaré. E Libânia, então, não te vejo mais também, pequena? Sumiste onde? No Bosque? Dentro da pedra na igreja de Santo Alexandre? Debaixo da Sé com a mãe das cobras? Entre os potes de mel e as cabeças de gurijuba do Ver-o-Peso? Ah, quando que vou te achar, ó tão desaparecida, ó cidade esta em que as criaturas somem, some a Irene, a Libânia some, volto a ver Dolores? É a cidade ou sou eu em que tudo some, Andreza, Semíramis, até o meu crescimento? «Quem bateu foi a tua morte, coroca». Antônio, esse encantado, dizia a Libânia. Nem tua cara vou ver de novo, amarelinho? Teus bichos do fundo te levaram mesmo. como te prometiam? Ou te esconderam no velho forno de farinha nos confins do Moju onde a velha feiticeira te amamentou de estórias? Lá se foi pras Ilhas, se foi nas suas perninhas, seu penar. um sumiço, mas de nunca mais? 106 Castigo daquele Santo Antônio de pau roído que ele, quando fugia, atirou na bagagem do homem passante, caminho do trem? E os três gordos, a gorda família, a madrinha mãe, o seu Virgílio a d. Emília, a olhos de turca? Como ter de procurar? Moravam agora numa casa verdadeira, ou nos Covões? Os gordos, os três, continuavam desunidos, atrás de uma casa de Nazaré com o piano às costas? Ah, crescesse ele, Alfredo, e tudo faria para juntar aquelas três gorduras, que só podia andarem juntas. E quando comparava a madrinha mãe, nos seus bufos, fumaças e a suspirar por um palpite de bicho, com as máquinas dos trens? Ah, trens de rapadura e milho verde! E se Libânia, descendo do trem, visse ele agora, aqui no lamaçal, este entanguido, enfezado, tristonho neste buraco que faz as vezes de janela, ouvindo o relincho daquele mal-assombrado lá pelos fundos da Passagem? Ora, na certa que a boa da ordinária caçoava: Oh, oh, vós na janela do vosso castelo, senhor meu Rei? Ouvindo a vossa cavalaria, Rei Meu Senhor?
Imaginava a Libânia a saltar do trem andando, abre as asas e desce na Inocentes: Mas ai, ai, meu inocentinho? Rei, Senhor meu Rei...
Por falar em Rei, e o piano, o piano das Alcântaras? Alfredo tem consigo ainda o silêncio do piano na Gentil, no ombro dos portugueses, em Nazaré, na calçada sob a chuva, o silêncio dele tio bem soava que nem tocando. Via ainda os galegos na sala escura a carregá-lo com tanta- facilidade como se o piano, por sair dali, se tornasse tão leve que seu único peso mesmo fosse o seu silêncio e a música que desejava tocar. Depois, na calçada, sobre o monte do despejo, sempre se dando a respeito, sério debaixo da mangueira e da chuva pensando estar num salão à espera do seu pianista, senhor pianista; até que a lâmpada, suspensa sobre o meio da rua, a uma pedra de Antônio, quebrou apagou-se, com a Libânia na sua aflição: a casa cai, madrinha mãe, saia já que senão ela cai mas em cima da senhora, Deus me livre! De todas aquelas coisas incluindo os Alcântaras, tirando Libânia e Antônio, só o piano mesmo merecia? Aonde andava o soberbo?
E tanto que a madrinha mãe queria ele, este seu Alfredo, entre os doutores e oficiais da Estrada de Nazaré! 107 Senhor meu Rei. Passagem Mac-Donald. Na casa da gente, a gente é rei, dizia a mãe. Mas Rei aqui não é nem o piano, é o Belerofonte no seu camisão e sua papeira.
O Rei os fundilhos lhe puxava, lhe salpicava de cuspo e apelidos, pregava-lhe rabo atrás, zurrava contra a papeira, o Grupo Escolar Doutor Freitas, derrama o tinteiro no «Pégaso», os cadernos no chão, mete a pena no focinho do «Pégaso»... E vinha o pai, o empolado nariz vermelho, a mecha alva no cabelo alto, o tique de tremer o pescoço:
— Belerofonte, monta no Pégaso, mata a Quimera, meu filho.
Belerofonte.. Alfredo havia de encontrar o nome no chalé, no livro da mitologia, tão agora na boca do marido da d. Celeste, como se as pessoas desta barraca não soubessem que a mitologia também tinha em Cachoeira.
No quintal, atrás da Quimera, Belerofonte mostrava as suas artes de cavaleiro no «Pégaso», o capadinho que a d. Celeste cevava para o dia do Círio. E Rei mesmo era o Belero: enfiava-se na velha baeta encarnada do pai, vassoura em punho, montado no «Pégaso», a levantar poeira sobre o Sagrado Coração de Jesus que tudo ali sofria atrás dum vidro partido na parede.
— A Quimera, Belerofonte! Mata, mata!
Na hora do almoço, aos domingos — que saudade daquela mesa aos domingos na madrinha mãe! — o seu Antonino Emiliano empunhava o bacalhau da mitologia, nomes de deuses voavam pela casa, tremia-lhe o pescoço, armava um queixo heróico, o nariz no fervor mitológico. A mulher sem ver nem ouvir, comendo fino de talher, solto o cabelo, caído o canto da boca. Seu Antonino Emiliano, comer com a mão, gostava. Brandia o tridente de Netuno que era uma unha de caranguejo. Contra o cunhado, o encarregado do Zéfiro», lançava a cólera dos deuses.
— Lhe entreguei a canoa, e nem me aparece nem me arranja fretes. Amarrou a canoa no aningal com a mãe d’água debaixo do toldo lhe fazendo cafuné. Belerofonte, Belerofonte, mata a Quimera!
D. Celeste logo se levantava para escovar o dente. E era seu Antonino quem tirava a mesa, a pedir ao Alfredo 108 que o ajudasse a enxugar os pratos, e então contava-lhe as façanhas do Belerofonte do livro.
— Gosto deste meu livro, parente. Está que é um bacalhau, tenho que mandar encaderná-lo. É’ a minha cachaça quando não me encharco na própria e não vou aos galos. Gosto de matar a Quimera. Quando estou nos meus assados pego do livro e galopo no «Pégaso».
E seus estudos de latim e da antiguidade greco-romana no Colégio Progresso Paraense? Em Óbidos, como soldado, fez um curso de feitiçaria, um muiraquitã ganhou perdeu. Seus dois anos de medicina? Logo enjoou a anatomia, senão teria sido cirurgião.
— Ceguei a faca de operador cortando tabocas no mato, sangrando tatu. Só não cortei aquela aranha choca... Depois, a fortuninha abaixo. Do sobrado caímos nesta cabana, parente. Então selei o «Pégaso» e navego no Zéfiro.
Alfredo olhava para a d. Celeste. E esta aí que diz, de seu barco? Quase oculta no cabelo solto que ela abria um pouco de lado para não ver o marido, d. Celeste fino comia. Seu Antoninho, de sua parte, não se dava conta disso, ou disfarçava, confidente dos deuses. Sobrevoando a mesa, o cavalo de asas, e Belerofonte na sela atrás do monstro. E embaixo a comer na mão do seu Antonino o Pégaso» grunhindo. Daqui um pouco, d. Celeste se levantava e recendia a pasta de seus dentes. Esta é uma rainha? indagou Alfredo a si mesmo, admirado e divertido. Via a d. Celeste reservar a água, que lavou a carne do almoço, para dar aos tajás na beca da noite. E magro. alto, ar espanhol, o bigodinho heróico, o pé sobre a Quimera, seu Antonino tirava a Vênus do mar de dentro do caranguejo. E foi que uma tarde, pouco depois do almoço, mal seu Antonino saiu, entra o Belerofonte no quarto da mãe, rebentou a fechadura da mala, velha onde a mãe guardava tudo da sua viagem, da sua mocidade, e veio... um susto teve Alfredo ao ver a d. Celeste avançar para o filho, arrancar-lhe o vestido e o antigo chapéu, a fita, de um azul desbotado, se esgarçou, rasgou nas mãos dele e dela.
109 — Direito um demônio!
Falou crispada, o sinal do te esconjuro, gritou pela janela ao vizinho defronte, um velho marceneiro, para vir consertar a fechadura. O filho tinha um pedaço de fita na mão e ao seu pé sujo, fios, a poeira do vestido arrancado da mala, da viagem, daquela moça que foi a d. Cecé Nisto, grunhindo, chega o «Pégaso» ao socorro do seu cavalheiro e lá se foi sobre o grunhido o herói berrando.
D. Cecé, o resto do vestido na mão, ouvia o marido, que nessa ocasião voltava: mata a Quimera, Belerofonte! O velho chapéu, Alfredo vem, apanha e ao levantar os olhos para a d. Celeste pasmou: ela tão pálida?
Mas era quarta-feira, dia da d. Cecé sair, às três em ponto, trajada à Passagem Mac-Donald.
Alfredo também decidiu sair, olhando a Passagem, foi até o larguinho de futebol. As duas traves, o mastrinho, a mangueira mãe, no centro. Era mais um arranca-toco, um quebra pé que campo, sem um capim, pedrento, cheio de pocinhas, as barracas de lado e outro. A mangueirona agasalhava com as suas ramagens a praça de esportes da Passagem de Inocentes. Voltou.
— Isto aqui é uma aldeia de índio, lhe disse a d. Cecé, antes de seguir no seu passeio.
Outras palavras Alfredo não ouviu, ouvia, sim, os brados do seu Antonino Emiliano no quintal, animando o Belerofonte montado no «Pégaso».
Aldeia, também ouviu da mãe quando, falava mal de Muaná. Mas de branco, aldeia das Oliveiras, de índio, não. E «soturna». esta palavra, vinha à memória, úmida e escura. Soturna, ouviu da mãe, soturna, então, esta Inocentes. Soturna sem saber por que, que era soturna? Que queria pensar, sentir, ao chamar soturna? O pau escuro da vala, direitinho um dente, mesmo de dia, ria. Soturno? Olhou o fio d’água, soturno? Mirou-se na poça:
sou um cabeça de pau. Neste espelho do chão, nem os olhos nem a boca, a simples mancha, imagem não tinha nem mesmo sombra, Veio um cachorro bebeu ao pé com tal secura, que Alfredo também desejou beber.
Mas sede do rio Marajoaçu no caminho do Muaná, a maré esverdeando-se na manhã alta e espuma e remoinho d’água dos remos espelhando em sua madeira os frisos da 110 correnteza, esta e aquela mancha do mato, o rosto dos remeiros. E sua mão do rio cheia, e roçando o beiço na fugitiva pele d’água, um sorvo e um borrifo no rosto, os remos remando, a correnteza lambendo-lhe a boca, sede de uma água assim na sombra dos miritizeiros rentes da maré.
As últimas chuvas ladrilhavam a Inocentes de lama. Onde ali não escorregava? Alfredo lembra o acalanto:
E aqui, de lama e palha, Belerofonte e bucheiro, era dos Inocentes a Passagem Mac-Donald. Assim o colégio, tão sonhado, feito de conta no jogo do carocinho na palma da mão, colégio ao pé da montanha, em cima da vista do mar, o colégio era uma vez. Já nem mais na Gentil, adeus Nazaré, Belém para quando, de novo, se isto aqui nem é mais Belém? E o caminho do Grupo Escolar Barão do Rio Branco, na Estrada Generalíssimo Deodoro, antiga Dois de Dezembro, já de Nazaré bem comprido, era agora muito mais. Por essas tantas coisas, é que Alfredo cada vez mais se encolhia na sua casca de pinto, sem nunca sair dela. Nem sino tinha mais, o sino da Gentil nem o toque da cometa no 26. Adeus calçadas debaixo das mangueiras que desatavam suas sombras pelo meio da rua com os bondes dentro: adeus mão alisando aqueles roxos azulejos dos sobrados da Quintino, adeus botões de campainha macias de apertar, maçanetas de porta, mãos de ferro maciças pesando 105 boas de bater babababá! com toda força e fugir, se esconder atrás da mangueira e escutar a velhona de óculos lá do alto da janela, babando fúria: «Foi o cão que bateu. O cão, te esconjuro. Se tem carrocinha de pegar cachorro, falta uma de pegar moleque. Foi o cão, credo cruz!» E de detrás da mangueira: «quem bateu foi a tua morte, coroca!» o Antônio respondia, os dois voando Nazaré acima. Adeus criadas barbadianas de azeviche sotaque e chapéu. altas como mastros do Divino; adeus ver a linda senhora ao telefone da padaria, de aliança no dedo, falando tão proibido; janelas onde se penduravam tapetes nas manhãs de sábado e delas parecia descer os gansos e as caixinhas de música que deixou de ter no padrinho Barbosa e no chalé, Adeus janelas à tardinha com as moças nas suas almofadas pendurando os braços, o colo, seus pescoços e suspiros, na hora de passar o bonde, rodar devagarzinho nos muitos carros o bom casamento, o bom enterro, ou a pé tocando dobrado a banda dos bombeiros; de vez em quando um braço acenava um adeus a quem ia no elétrico ou se estirando para apanhar as rosas que chegavam ou rendas ou embrulhos de loja, e daquelas cabeças soltavam-se jasmins, colhidos na calçada pelos molequinhos descalços e entre eles, sem saber como, com sua vergonha e pressa, este seu Alfredo. Assim na hora de deitar, mal sentia Libânia dormindo, pronto, ele ia, enfiava na cabeça da adormecida aqueles murchos jasmins das moças janeleiras de Nazaré. E Libânia, então, não te vejo mais também, pequena? Sumiste onde? No Bosque? Dentro da pedra na igreja de Santo Alexandre? Debaixo da Sé com a mãe das cobras? Entre os potes de mel e as cabeças de gurijuba do Ver-o-Peso? Ah, quando que vou te achar, ó tão desaparecida, ó cidade esta em que as criaturas somem, some a Irene, a Libânia some, volto a ver Dolores? É a cidade ou sou eu em que tudo some, Andreza, Semíramis, até o meu crescimento? «Quem bateu foi a tua morte, coroca». Antônio, esse encantado, dizia a Libânia. Nem tua cara vou ver de novo, amarelinho? Teus bichos do fundo te levaram mesmo. como te prometiam? Ou te esconderam no velho forno de farinha nos confins do Moju onde a velha feiticeira te amamentou de estórias? Lá se foi pras Ilhas, se foi nas suas perninhas, seu penar. um sumiço, mas de nunca mais? 106 Castigo daquele Santo Antônio de pau roído que ele, quando fugia, atirou na bagagem do homem passante, caminho do trem? E os três gordos, a gorda família, a madrinha mãe, o seu Virgílio a d. Emília, a olhos de turca? Como ter de procurar? Moravam agora numa casa verdadeira, ou nos Covões? Os gordos, os três, continuavam desunidos, atrás de uma casa de Nazaré com o piano às costas? Ah, crescesse ele, Alfredo, e tudo faria para juntar aquelas três gorduras, que só podia andarem juntas. E quando comparava a madrinha mãe, nos seus bufos, fumaças e a suspirar por um palpite de bicho, com as máquinas dos trens? Ah, trens de rapadura e milho verde! E se Libânia, descendo do trem, visse ele agora, aqui no lamaçal, este entanguido, enfezado, tristonho neste buraco que faz as vezes de janela, ouvindo o relincho daquele mal-assombrado lá pelos fundos da Passagem? Ora, na certa que a boa da ordinária caçoava: Oh, oh, vós na janela do vosso castelo, senhor meu Rei? Ouvindo a vossa cavalaria, Rei Meu Senhor?
Imaginava a Libânia a saltar do trem andando, abre as asas e desce na Inocentes: Mas ai, ai, meu inocentinho? Rei, Senhor meu Rei...
Por falar em Rei, e o piano, o piano das Alcântaras? Alfredo tem consigo ainda o silêncio do piano na Gentil, no ombro dos portugueses, em Nazaré, na calçada sob a chuva, o silêncio dele tio bem soava que nem tocando. Via ainda os galegos na sala escura a carregá-lo com tanta- facilidade como se o piano, por sair dali, se tornasse tão leve que seu único peso mesmo fosse o seu silêncio e a música que desejava tocar. Depois, na calçada, sobre o monte do despejo, sempre se dando a respeito, sério debaixo da mangueira e da chuva pensando estar num salão à espera do seu pianista, senhor pianista; até que a lâmpada, suspensa sobre o meio da rua, a uma pedra de Antônio, quebrou apagou-se, com a Libânia na sua aflição: a casa cai, madrinha mãe, saia já que senão ela cai mas em cima da senhora, Deus me livre! De todas aquelas coisas incluindo os Alcântaras, tirando Libânia e Antônio, só o piano mesmo merecia? Aonde andava o soberbo?
E tanto que a madrinha mãe queria ele, este seu Alfredo, entre os doutores e oficiais da Estrada de Nazaré! 107 Senhor meu Rei. Passagem Mac-Donald. Na casa da gente, a gente é rei, dizia a mãe. Mas Rei aqui não é nem o piano, é o Belerofonte no seu camisão e sua papeira.
O Rei os fundilhos lhe puxava, lhe salpicava de cuspo e apelidos, pregava-lhe rabo atrás, zurrava contra a papeira, o Grupo Escolar Doutor Freitas, derrama o tinteiro no «Pégaso», os cadernos no chão, mete a pena no focinho do «Pégaso»... E vinha o pai, o empolado nariz vermelho, a mecha alva no cabelo alto, o tique de tremer o pescoço:
— Belerofonte, monta no Pégaso, mata a Quimera, meu filho.
Belerofonte.. Alfredo havia de encontrar o nome no chalé, no livro da mitologia, tão agora na boca do marido da d. Celeste, como se as pessoas desta barraca não soubessem que a mitologia também tinha em Cachoeira.
No quintal, atrás da Quimera, Belerofonte mostrava as suas artes de cavaleiro no «Pégaso», o capadinho que a d. Celeste cevava para o dia do Círio. E Rei mesmo era o Belero: enfiava-se na velha baeta encarnada do pai, vassoura em punho, montado no «Pégaso», a levantar poeira sobre o Sagrado Coração de Jesus que tudo ali sofria atrás dum vidro partido na parede.
— A Quimera, Belerofonte! Mata, mata!
Na hora do almoço, aos domingos — que saudade daquela mesa aos domingos na madrinha mãe! — o seu Antonino Emiliano empunhava o bacalhau da mitologia, nomes de deuses voavam pela casa, tremia-lhe o pescoço, armava um queixo heróico, o nariz no fervor mitológico. A mulher sem ver nem ouvir, comendo fino de talher, solto o cabelo, caído o canto da boca. Seu Antonino Emiliano, comer com a mão, gostava. Brandia o tridente de Netuno que era uma unha de caranguejo. Contra o cunhado, o encarregado do Zéfiro», lançava a cólera dos deuses.
— Lhe entreguei a canoa, e nem me aparece nem me arranja fretes. Amarrou a canoa no aningal com a mãe d’água debaixo do toldo lhe fazendo cafuné. Belerofonte, Belerofonte, mata a Quimera!
D. Celeste logo se levantava para escovar o dente. E era seu Antonino quem tirava a mesa, a pedir ao Alfredo 108 que o ajudasse a enxugar os pratos, e então contava-lhe as façanhas do Belerofonte do livro.
— Gosto deste meu livro, parente. Está que é um bacalhau, tenho que mandar encaderná-lo. É’ a minha cachaça quando não me encharco na própria e não vou aos galos. Gosto de matar a Quimera. Quando estou nos meus assados pego do livro e galopo no «Pégaso».
E seus estudos de latim e da antiguidade greco-romana no Colégio Progresso Paraense? Em Óbidos, como soldado, fez um curso de feitiçaria, um muiraquitã ganhou perdeu. Seus dois anos de medicina? Logo enjoou a anatomia, senão teria sido cirurgião.
— Ceguei a faca de operador cortando tabocas no mato, sangrando tatu. Só não cortei aquela aranha choca... Depois, a fortuninha abaixo. Do sobrado caímos nesta cabana, parente. Então selei o «Pégaso» e navego no Zéfiro.
Alfredo olhava para a d. Celeste. E esta aí que diz, de seu barco? Quase oculta no cabelo solto que ela abria um pouco de lado para não ver o marido, d. Celeste fino comia. Seu Antoninho, de sua parte, não se dava conta disso, ou disfarçava, confidente dos deuses. Sobrevoando a mesa, o cavalo de asas, e Belerofonte na sela atrás do monstro. E embaixo a comer na mão do seu Antonino o Pégaso» grunhindo. Daqui um pouco, d. Celeste se levantava e recendia a pasta de seus dentes. Esta é uma rainha? indagou Alfredo a si mesmo, admirado e divertido. Via a d. Celeste reservar a água, que lavou a carne do almoço, para dar aos tajás na beca da noite. E magro. alto, ar espanhol, o bigodinho heróico, o pé sobre a Quimera, seu Antonino tirava a Vênus do mar de dentro do caranguejo. E foi que uma tarde, pouco depois do almoço, mal seu Antonino saiu, entra o Belerofonte no quarto da mãe, rebentou a fechadura da mala, velha onde a mãe guardava tudo da sua viagem, da sua mocidade, e veio... um susto teve Alfredo ao ver a d. Celeste avançar para o filho, arrancar-lhe o vestido e o antigo chapéu, a fita, de um azul desbotado, se esgarçou, rasgou nas mãos dele e dela.
109 — Direito um demônio!
Falou crispada, o sinal do te esconjuro, gritou pela janela ao vizinho defronte, um velho marceneiro, para vir consertar a fechadura. O filho tinha um pedaço de fita na mão e ao seu pé sujo, fios, a poeira do vestido arrancado da mala, da viagem, daquela moça que foi a d. Cecé Nisto, grunhindo, chega o «Pégaso» ao socorro do seu cavalheiro e lá se foi sobre o grunhido o herói berrando.
D. Cecé, o resto do vestido na mão, ouvia o marido, que nessa ocasião voltava: mata a Quimera, Belerofonte! O velho chapéu, Alfredo vem, apanha e ao levantar os olhos para a d. Celeste pasmou: ela tão pálida?
Mas era quarta-feira, dia da d. Cecé sair, às três em ponto, trajada à Passagem Mac-Donald.
Alfredo também decidiu sair, olhando a Passagem, foi até o larguinho de futebol. As duas traves, o mastrinho, a mangueira mãe, no centro. Era mais um arranca-toco, um quebra pé que campo, sem um capim, pedrento, cheio de pocinhas, as barracas de lado e outro. A mangueirona agasalhava com as suas ramagens a praça de esportes da Passagem de Inocentes. Voltou.
— Isto aqui é uma aldeia de índio, lhe disse a d. Cecé, antes de seguir no seu passeio.
Outras palavras Alfredo não ouviu, ouvia, sim, os brados do seu Antonino Emiliano no quintal, animando o Belerofonte montado no «Pégaso».
Aldeia, também ouviu da mãe quando, falava mal de Muaná. Mas de branco, aldeia das Oliveiras, de índio, não. E «soturna». esta palavra, vinha à memória, úmida e escura. Soturna, ouviu da mãe, soturna, então, esta Inocentes. Soturna sem saber por que, que era soturna? Que queria pensar, sentir, ao chamar soturna? O pau escuro da vala, direitinho um dente, mesmo de dia, ria. Soturno? Olhou o fio d’água, soturno? Mirou-se na poça:
sou um cabeça de pau. Neste espelho do chão, nem os olhos nem a boca, a simples mancha, imagem não tinha nem mesmo sombra, Veio um cachorro bebeu ao pé com tal secura, que Alfredo também desejou beber.
Mas sede do rio Marajoaçu no caminho do Muaná, a maré esverdeando-se na manhã alta e espuma e remoinho d’água dos remos espelhando em sua madeira os frisos da 110 correnteza, esta e aquela mancha do mato, o rosto dos remeiros. E sua mão do rio cheia, e roçando o beiço na fugitiva pele d’água, um sorvo e um borrifo no rosto, os remos remando, a correnteza lambendo-lhe a boca, sede de uma água assim na sombra dos miritizeiros rentes da maré.
As últimas chuvas ladrilhavam a Inocentes de lama. Onde ali não escorregava? Alfredo lembra o acalanto:
“se esta rua fosse minha
eu mandava ladrilhar”...
eu mandava ladrilhar”...
Acalanto de Lucíola. Num tal ladrilho, Alfredo abre caminho até o Barão do Rio Branco. Em vez de sair pelo boca da Passagem, prefere varar pelos fundos, dobrar a Quatorze de Março, apanhar a Bernal do Couto, respirando, batendo a lama dos sapatos na calçada da Santa Luzia. Mas foi virar na Quatorze, um espanto, um estremecimento gelou seu passo: lá de dentro do pardieiro da esquina vem vindo, eivem, se achega da janela um homem, ou visão semelhante, algo inchado, oleoso, testa de tacho, nariz e beiço de barro fresco. Parecia espalhar em toda a esquina uma sombra tão pegajenta que os passantes passavam de largo. A janela encaixou o espantalho e dele s6 era vivo o olhar sobre o Alfredo que fugia.
Ia sentindo no Barão que perdia para sempre o seu colégio, a educação que sonhou, sem saber qual ou como o antigo faz de conta figurava. Era também por vir morar na Inocentes? A visão da esquina? Belerofonte? Ou porque estivesse a ponto de querer entrar no Ginásio antes de concluir o primário? Por entre a casca do ovo, já partido, já o rapaz enfiava o bico.
As aulas corriam nem tanto aborrecidas. Alfredo sempre no Quadro de Honra, acabou enjoando, perdeu de propósito, chegou ao ponto de indagar: se eu fosse o último da aula? Não arriscou. Quando nada, tinha aquela professora adjunta, Maria Loureiro Miranda, mormente se de saia branca chegava, blusa lilás, rosa ao peito. Os colegas, comparados ao Belerofonte, bem camaradas eram. Sempre 111 bom ver, no tocar a saída, formando na escadaria, o sexo feminino, dito muito na boca das professoras, muito lido e escrito nos cadernos. As colegas de sainha azul e blusinha branca. Delas ,tão em quantidade, uma e outra, Alfredo mal distinguia. Nem mal a campainha mandava debandar e das meninas só via a revoada azul e branco e as fitinhas no cabelo, uma ou outra saia o vento queria levantar. No sexo masculino, atrás do busto branco do Barão, seguindo o feminino, ali estava de novo o Lamarão em forma. Voltava do interior, lá do Almeirim, o mesmo misterioso, dente de ouro à mostra, sempre forrado de chocolate, que distribuía. Na rua, era cheio de sorvetes, convites para a matinê do domingo, o polar sempre novo, ainda de calça curta mas tão rapaz já, que não condizia mais aquele joelho de fora nem a meia cor de café esticada até uma altura da perna. Continuava na São Jerônimo, habitante daquele palacete onde não se via o dono nunca, um rosto da família, só uma vez a criada, as mãos dela relustrando as lustrosíssimas maçanetas da porta nem um sussurro dentro nem um cão nem uma colher caindo. Em baixo e em cima, muito sérias as janelas fechadas, vidraças que nem espelhos e em que as mangueiras da São Jerônimo se miravam. E aqui fora, as grades, o portão alto, de ferro, as argolas amarelas. Noutro lado da rua, defronte. ficava o Alfredo entre aquele mistério e a casa do jardim que vendia flor, com as suas varandas em cima e em baixo escancaradas sobre os canteiros que rodeavam a vivenda. Na espera de Lamarão, bem que de Antônio Alfredo se lembrava. Me vem, Antônio, certeiro me atirar uma simples pedra no vidro tão fino de uma janela ali, estilhaçando o silêncio, bate no jarro, vira uma louça era uma vez a porcelana. De repente dar de bater a bom bater na maçaneta dourada como botão de uniforme de gala? Te abre, te escancara, palacete; atira manga na vidraça, mangueira, chega de te mirar no espelho, chega de te achar bonita, os daí de dentro só comem maçã. Nisto, o Lamarão saindo do rés do chão do palacete tal qual saía um das estórias que contam de palácios onde a mulher esconde o rosto no véu e o reino do rei vai pelas mil e uma noites a dentro. Espanado e lustrado pela criada, Lamarão trazia nos modos, no falar, no lenço branco, a delicadeza dos objetos que 112 ali viviam, não das pessoas que Alfredo julgava muito abaixo de Lamarão, mas de todo aquele secreto viver das porcelanas e do próprio silêncio ali senhor. Lamarão lhe pegava pelo braço, domingo, matinê no Odeon. A fineza de sempre na bilheteria do cinema, ao dar as entradas ao porteiro nem parecia morar naquela surda riqueza, só dizia do luxo sua vestimenta, seu ar educado e mais nada, no mais nem prosa, bastante alegre da rua e de ser amigo destezinho morador lá na Inocentes que nem água encanada tinha quanto mais luz elétrica na barraca. Uma coisa se via: daquela família invisível, o Lamarão não era, não. O mais que podia ser um parente longe, um parente de Almeirim. Quem era esse não mais menino e ainda nem bem rapaz? Nisto, o Lamarão se fechava, feito o palacete, suas origens, seus particulares, trinco na porta. Alfredo, no embaraço de indagar, por temer que fosse indagado também e ter de falar da Gentil, de Nazaré, de Areinha e da Inocentes ,do porco que ia às noites lhe fossar o fundo da rede. Ou por um fenômeno, o Lamarão morava só, com uma criada? Sendo assim, por que não mandava o amigo entrar? Receava que o amigo mexesse nalguma coisa, apanhasse um objeto, ou dentro do palacete era outro Lamarão, não mais de Grupo Escolar nem da rua, outro, na feição do palacete, por isso não podia receber qualquer-um? Com esta suspeita, Alfredo quis afastar-se dele, então Lamarão era dois? Mas este quase humilde, vinha-lhe pedir para irem juntos ao cinema, juntos devorarem sonhos na garapeira de Nazaré. Ria que ria no Odeon dos cômicos da fita, a tirar o lenço branco e a suspender a meia. Alfredo divertia-se era com a alegria do colega, a comédia dele se retorcendo com as diabruras na tela, a tudo achando tanta graça, Despediam-se no largo, Alfredo, às ocultas, ia espiando o amigo até entrar no palacete que o devorava com sua porta dourada e suas porcelanas. Lá dentro era outro? Por que Lamarão aprendia? Alfredo se indagou. Tinha de nascença uma tão sua educação. Quem vivia debaixo daqueles forros reluzentes estar no Barão precisava? Precisava aquele traje da missa, todas as manhãs e sentarzinho na carteira manchada de tinta, roída nas quinas, e ali de boca aberta, antes atencioso que atento, a cabeça um pouco pensa, como se escutasse só de um lado, a apanhar 113 as cifras e os proparoxítonos da professora? Algumas vezes, lenço na mão, parecia incapaz de entender uma silaba sequer do que as professoras rezavam, entaladas de consoantes, metaplasmos e ditongos. Não faltava a uma só aula, o primeiro chegando, sabia de cor, cantava inteiro o hino, obediente a todos os regulamentos e birras do porteiro. Uns quantos colegas passavam pelo Barão, tirando o pai da forca, pegavam o cheiro daquela taxionomia e pronto, logo-logo jogavam no veado, no nunca mais. Lamarão, não, queria sair com o certificado primário para meter num quadro na parede. Que parede? Do palacete, não, ali de quadro só as pinturas da Europa. Aquele estudo no Barão, do Lamarão, era ou não era voto de pobreza? E também de se pensar, sim: cru entrou, cru havia de ir embora, o canudinho debaixo do sovaco, virgem daquela instrução. Chamado à lição, diga a segunda pessoa do pretérito mais que perfeito do verbo haver ... conjugue o condicional — aquilo nele não pegava. Olhava para a lâmpada do teto. tirando o lenço alvo, fino, alvo, responder não respondia, o dedo na prateada fivela do cinturão novo. Tinha feito promessa de estudar no Barão? Uma penitencia? Mandado sentar, logo se abaixava na carteira, corrigindo a meia ou soprando algum pó do calçado, o alvo e engomado lenço na mão a enxugar um vago suor, a sua perturbação, o esforço de ouvir a professora, a efetiva da cadeira, esta um pouco gorda, a pastinha sobre a testa franzida, a cruz da volta do pescoço descendo-lhe por entre os severos seios de mestra mãe.
Também Lamarão nunca deu de saber onde agora morava o seu amigo. O palacete e a barraquinha se encontravam, juntos passeavam sem saberem suas origens. Uma vez, Alfredo sonhou levando a d. Celeste para o palacete do Lamarão.
Que diferença de Rabelinho, este-um alto, pele e osso, uns tons esfumaçados no canto do olho, todo dia uma roupa, o guarda-chuva no braço, sempre de casimira e calça curta, erigido em suas pernas como em dois paus. Dele logo tudo se sabia, morava na Estrada de Nazaré ali ao pé do Largo, filho de desembargador, preferia estudar no Barão a estudar em colégio, nascido criado em berço de 114 livro. O pai sempre saindo nos jornais, de fraque ou toga. Quando se aproximava dum pobre, dum Alfredo, era para perguntar: porque não está antes na oficina ou pescando em Marajá, bastava o abc, o mais não era para um qualquer. Sendo ele a gramática Paulino de Brito em pessoa, assustava. E cada vez mais ossudo e varapau, transpirando as três conjugações, arrotava os advérbios do compendio: talvez, quiçá, porventura, desferia imperativos: dize, faze, traze, tende vás... o que provocava espanto. irritação, antipatia. Até se envergonhava com isso porque ele também, imitando a professora e o Rabelinho. apareceu em Cachoeira e em Muaná, enfeitado de dize, faze, traze... A mãe, que vinha das garrafas, bateu palmas: Uai! Me diz de novo? Me repete!? Rodolfo, escuta aqui este-um de Portugal. Os molequinhos, pitiando a peixe, barro e tucumã, rodeavam ele, pediam: que é faze? E dize. Mas nos explica. Logo o Alfredo recolheu o faze, o traze, o dize, devolveu as jóias à língua da professora e ao Rebelinho, em boa mão estavam, em bom estojo.
No que tocava ao Rebelinho, as professoras tinham e não tinham satisfação ao vê-lo tão afiado na gramática quanto cego na geografia e na lição de coisas. Se arreceavam dele que dizia: «Papai, nem bem chega do Tribunal, dá-me lição. Tem uma estante só de língua portuguesa.» Elas, então, usando de cautela, poupavam Rebelinho na argüição, tinham o aluno por já sabido, arriscar não arriscavam. Como, por exemplo, a professora Maria Loureiro Miranda: mandava o Rebelinho ao quadro negro? Uma pergunta que fosse, sobre as variações pronominais lhe fazia? A sombra do Desembargador rabeava na aula, O Tribunal Superior de Justiça descia pelo pescoço do Rebelinho de gogó saliente como um til. Na hora da lição, a professora adjunta Maria Loureiro Miranda desfolhava a memória, o embaraço e a timidez dos demais, Rebelinho à parte. Só fazia era piscar para ele e, por isso mesmo, também piscava para Alfredo e o Lamarão, estes se olhando um para o outro como a dizer: entendeste? Ocasião houve que Alfredo quis falar ao Lamarão: tu não achas que essas professoras tem um falar que não é nem pode ser o delas? Ali na mesa figuravam o palco e Alfredo até se admirava: faziam tão bem o seu papel! E nesse representar, puxavam 115 palavra como no terraço do Grande Hotel, domingo gordo, se puxava serpentina. Com o giz e a esponja, riscavam apagavam denominadores comuns, ângulos e losangos. Nas cartas de redação, não se podia começar mais assim: estimo que estas linhas encontrem a senhora de saúde, ora esta, patati, patatá, choviam regras, resolvam as operações, aqui as questões da composição de hoje, sábado, ora, bugalhos! como dizia o pai. Em Cachoeira, entre as tarrafas e os anzóis, se falava em quebrados, um quilo de sal e um quebradinho. Aqui no quadro negro, nos cadernos, contando duvidosas quantidades, quebrado é numeração em cima de outra, separada por um traço. Era a fração da Antonica, a papudinha coitadinha lá da Areinha que a Deus pedia em vão para ser uma professora «mas eu quem sou eu?»
Por que não vinha a professora efetiva com a laranja e partia e dividia e falava: isto aqui é um quebrado da laranja? Fosse deste modo, se via o cheiro, a casca, o gomo, o caldo se doce, se azedo, onde é que tem laranjal, em Bragança, vem no trem? O pai, no chalé, falava de um laranjal da Itália, tinha visto, ou ouvido, não sabia onde, livro, ópera ou estampa, um laranjal, viste o laranjal em flor? Não era laranjal como aquele do seu Wolfango, em Muaná: teve um espanto mas que tanta laranjeira! E com tão tamanhas laranjas e estas combinando amarelarem juntas e um cheiro e o verde em cheio nos olhos com aqueles espinhos que diziam: aqui não pões a mão, não somos goiabas. Por certo a professora nunca viu um laranjal e dele falava na forma de números, riscos, fração... Algum de vocês já chupou laranja da Bahia, onde é a Bahia, Lamarão? Nem isso indagava a professora. Faltava laranja na aula. Uma boa aula de maracujá faltava. Em vez da laranja ou do maracujá, era: Quem em mil quinhentos e quarenta e nove chegou na Bahia? E isto dos séculos? Tempo contado em cem anos? Era, de verdade, um tempo? Mil quinhentos, mil seiscentos, mil setecentos, mil oitocentos, em MCLVX existiram, houve? No desfilar sem conta das regras definições datas e nomes, não era melhor a aula que davam os olhos da professora Maria Loureiro Miranda? Tudo nos livros e na boca das professoras fazia lembrar a palavra Maternidade na cabeça 116 das velhas parideiras do Arar!. Ensinar era palavrear? Aprender engolir palha? Alfredo não via os objetos, de que falavam as lições. O giz cobria a pedra de máximo divisor comum, volumes, quantias, Governadores Gerais, coisas do mais puro faz de conta. Ah, sim, assim Andreza podia dizer, aquela instrução era que nem o baile da Mãe Maria, tudo do muito bem imaginado sem o sal que Andreza dava. A maçã, de que saía a fração, cadê a maçã? O pão desfeito em avos, quociente e quintos, de vento era, A planta não aparecia em pessoa, nem por uma casualidade um pé de sabugueiro, denominava-se reino vegetal, tão sem raiz na terra como sem água aqueles oceanos no mapa. Em vão queria distinguir no papel o reino mineral do vegetal. Boi, no papel e na língua da professora, aparecia tão morto igual pedra, e esta mesma, na beira do rio, tapando a água na correnteza da vala, que bem viva era se podia jurar. Aquela figuração da Terra num globinho paradinho em cima da mesa, de redondez de não se acreditar, em cores, seus continentes e mares de papelão? Mais planeta Terra era o seu carocinho sobe e desce na palma da mão, no mesmo segundo à roda do sol, colégio, chalé, rio, Andreza e borboleta, e ele, Alfredo, trapezista, no arame do equador. A professora efetiva, régua na mão, repetia: a terra move-se. Mas quem, quem que acreditava? Ah tivesse um poder a professora Maria Loureiro Miranda de mover a parede, como quem sobe um pano de palco, escancarar aos olhos da aula, não no mapa mas ele mesmo em pessoa, o Oceano! Ou quando nada descerzinho então pela porta do lado, procurar as mangueiras do fundo e sem estames nem pistilo chamar os alunos: esta vocês conhecem do berço. Olhem se tem manga, quem souber subir que suba e apanhe, vamos comer umas, e olhar o caroço, olhem um ali grelando, e as folhas, que estão vendo na folha? E sentir na boca da professora o amarelume da manga. Já viram um reino de formiga todo ocupado em carregar cargas e cargas de folhas? Alfredo, aí, logo contava dos folharais de Cachoeira, do formigueiro em cima d’água ao pé do velho jacaré dormindo, depois nas rachaduras do chão quando as chuvas- diziam adeus. Quanta folha em Cachoeira e nem uma agora para a lição de coisas nem uma na mesa da professora? A folha 117 na lição não passava da língua da professora efetiva, uma língua que volteava e trazia da lá da goela, da campainha da garganta, dos dentes — um de ouro — (do véu palatal, como ali se ensinava) as folhas de faz-de-conta.
No seu caminho para o Barão, passava pelo grupo escolar do largo da Santa Luzia, o Doutor Freitas, e espichava o beiço: esse-um aí? Coitado. Não tinha a boa parecença do Barão, este, sim, recostado nas mangueiras do fundo; nem a escadaria de pedra branca nem na entrada, de pedra branca, o busto do Barão. No Barão, as janelas do andar de cima olhavam não só a lança do bonde correndo no cabo mas aquele quintal de muro com seus malvados cacos de garrafa, o sol nascendo das fruteiras. A campa do Barão retinia longe, comparável aos sinos da Basílica. O Barão fazia canto com a Estrada de São Brás, toda-toda enroupada de mangueira, Enquanto ali confronte o Necrotério da Santa Casa, sob a poeira do Largo, e a saída dos enterros, o Doutor Freitas possuía umas tristinhas professoras, de se pedir para soprar o bolor dos rostos e das almas nem comiam as criaturas? Ou suas dores, enjoadas de menino e livro? Ali de língua gasta, até se espantavam ao se surpreenderem se dizendo a si mesmas: mas afinal que é isso que ensinamos, que é isso? Nossa Senhora de Nazaré, a nossa vida se esvaiu foi na saliva. Não teve cera no Carro dos Milagres que fizesse aliviar este pelourinho. Nossa voz é uma rouquidão, Lá vão os velhos discos de beira roidinha, as agulhas do enferrujado gramofone... Por isso, Alfredo compreendia por que o orgulhoso e espanado gramofone do Padrinho Barbosa virou mudo. Lá vão, umas de chapelinho preto, outras viúvas, aquela coxo, todas vergadas ao peso daquele Doutor Freitas e dos atrasos de seus ordenados no Tesouro, sem o perfume daquelas do Barão. Por isso, Alfredo até se consolava. O Doutor Freitas era mais perto, sim, mas preferia andar uma lonjura e continuar no Barão. O Doutor Freitas era por demais perto da Inocentes. E os alunos do Doutor Freitas lhe pareciam embaciados, sempre com seus arpões contra seus rivais do Barão. Alfredo evitava passar no meio deles, ao mesmo tempo que curiosidade de olhar e ouvir como ali a fração, o substantivo, a lição de coisas, que ensinavam, era diferente do Barão, cada qual com o 118 seu faz-de-conta, outro latim, outra ladainha. Nem uma das mestras nem de longe se comparava com a adjunta do quarto ano masculino do Barão, a professora Maria Loureiro Miranda, que parecia sempre saindo dum demorado banho de cheiro. Ensinava com os olhos não as coisas de livro mas as suas, o que havia nela do mundo, da rosa ao peito, da laranja que comia aos gomos no recreio. Seu olhar dava aulas de sedução. Quem aí não tirava diploma, não saía rapaz? Alfredo a modo que lhe pedia: «Me tire logo com esse seu olhar este rapaz que está aqui dentro do ovo, quebre a mea casca com seus olhos, professora Maria Loureiro Miranda.» Quando ao quadro negro, era como se fosse escrevendo a giz os encantos que prometia. A professora Maria Loureiro Miranda suspendia o braço, a manga curta, o sinal da vacina e debaixo do braço aquele suado escurume em cheio nos olhos dos alunos. Que-um macio, que um arrepiado na voz e maneiroso andar, e ensinar era mais uma das suas feitiçarias. Vendo-a, aqui presente como professora, Alfredo pensava na ausente, esta, ela, de verdade, imaginada dentro do quarto, tomando banho de choque, ou na tina entre raízes cheirosas ou adormecendo na rede suspensa da mangueira, a cuia de pupunha cozida ao pé, ah professora Maria Loureiro Miranda. Contava um menino que a viu nadar nua na Baía do Sol e se o peixe-candiru no fundo, Deus! a honra lhe tirasse? Puxar pelos seus alunos não puxava, era verdade, queria deles um mínimo, que ela, da sua parte, dava também menos possível, para não suar nem cansar nem enrouquecer nem machucar a rosa no peito nem beber muita água, tudo maciamente, nos modos dela de tirar e por o brinco, ajeitar o cós ou os cordões, o que não se sabia, lá por baixo ou dentro do vestido, e abrir o leque e se abanar, a dizer: «que é golfo, me diga, meu bem» e logo num ralho doce: estes meus impossíveis.
Uma segunda-feira, veio de fita passada no cabelo, no peito ao pé da rosa o distintivo do Clube do Remo, tinha ido domingo nas regatas; descuidada, deixou cair do lenço o catecismo e deste um cartão deslizou para baixo da carteira do Pamplona que pôs o pé em cima. A professora, de morena, ficou rosada. Fingiu que não viu. Pamplona, 119 não demorou, pediu licença, avançou até a banca e lhe devolveu o cartão. No recreio, todos em cima do Pamplona:
— Que foi, Pamplona, que tinha no cartão?
— Mais respeito à professora. Disciplina militar no caso. Ela é a nossa comandante. Não conhecem o regulamento?
— Nos conta!
— Alto! Soldado raso não tem que saber dos cartões do comandante. E murmurou:
— Soubesse o que tinha, o que era... Mas dentro do catecismo!
— Pamplona, me conta que eu conto mais coisas que vi do corpo dela na Baía do Sol, nuinho-nuinho, a gente troca as informações.
— Última forma, retire-se, praça n. 38, Monta guarda! Quem estava na Baía do Sol não era a professora.
— E quem era?
— Nunca uma professora é nua.
Mais não adiantava, Não sé sabia. Pamplona jurou pela honra do soldado que ia ser, que não podia contar. Pamplona, marcial, parecia de uniforme, queria o curso primário para habilitar-se, logo que alcançasse idade, a um concurso de sargento na 26 B. C. ou no Rio de Janeiro. Que cartão era? Pamplona em posição de sentido:
— É meu brio, de praça, não dizer. Devo respeito ao meu superior. Levo isso pro meu túmulo. Assim jurei.
Pamplona, nos juramentos, apelava sempre para o seu túmulo, coisa que Alfredo ouvia dizer de livro ou de modinha e nunca no cemitério de Cachoeira e do Muaná onde lá era cova sepultura e casa de embuá. Pamplona não andava, marchava, não cumprimentava, fazia continência, e ficava longas horas vendo o exercício dos recrutas no Largo de Nazaré. sem tirar os olhos do instrutor. «Devo ser assim como esse sargento, bem-bem ríspido. Duvidou comigo, quem tiver sua cabra solta, prenda, comigo fez, cadeia.»
120 — Segredo militar. Sabe que quer dizer a palavra pacto, pronunciada escrita com o c? Pois é. Vai comigo pro túmulo. Licença para retirar-me, sargento Alfredo?
Que dizia no cartão? Quem que adivinhava? Pamplona cadeado na boca. A professora Maria Loureiro Miranda fazia vista escura às artes militares do Pamplona na aula, no recreio, na hora da saída. E numa aula de geografia, foi para Alfredo quase uma sufocação sentir na sua cabeça um dedo, a unha fina, uma unha macia, a professora encostada na carteira, um pouco inclinada para ele que se levantou, num susto e sufocado. E ali o anel da professora, os dois outros de uma cor fugitiva.
— Alfredo, as cidades principais do Pará. Que espanto é esse?
Via rente da boca da professora um sinalzinho, subia descia a respiração dela, um bater de peito um tanto descompassado, Alfredo via saindo desta, aquela da Baía do Sol. O menino, que viu; viu mesmo? Em coisas assim, não custava mentir, imaginar, acreditar que viu sem ter visto. Ao pé da cadeira, depois que ela se retirou mordendo o beiço, abotoando um colchete no alto das costas, o Lamarão cochichou mais que de repente: «Me beije, professora Maria Loureiro, já que a senhora parece com um apetite de beijar um, assim parece, sua boca não diz? Está com precisão, me chame, me de um golezinho desse seu beijo, não seja tão escassa.»
Alfredo cutucou o colega, surpreendido. Aquele, aquele era o Lamarão? Mas Lamarão? Desconhecia. Lamarão o olhar no sinal da boca, no abre e fecha dos lábios molhados da moça, a penugem do cangote, o colo que levezinho ela coçou um meio instante com a unha pontuda, o cabelo em que havia um pentear tão dela, de ninguém mais, seu dom. Nesta manhã ainda, corrigindo provas na mesa, ela deu um suspiro e toda a aula subiu desceu naquele suspiro e assim foi que o Pamplona também suspirou. Ela, macio, correu os olhos.
— Quem fez? Quem suspirou?
— Não foi a senhora, professora?
— Não lhe perguntei, Pamplona. Fique de pé, sr. saliente.
Ergueu-se, se abanou, suspendeu os braços, cruzou-os na nuca, tornou a sentar. Pamplona, de pé, em posição de. sentido.
Na sala da Diretoria, virou mexeu no espelho a professora Maria Loureiro Miranda, se ocupando em dobrar os seus feitiços. Pouca atenção lhe dava a Diretora, observou Alfredo. Alta, varando alturas e filas de meninos, rachando a voz para soar mandona em todo o Barão, a Diretora parecia empacotada, trazida em peças numa caixa forrada de serragem e cinza. Quando acabava o dia no Barão, o porteiro, o herói de Canudos, decerto desarmava a Diretora, metia as peças novamente na caixa entre a cinza e a serragem. Noutro dia, eivem o nosso toró, resmungão e abanando a manga sem braço, batendo a campa, a destampar a caixa, a retirar com a única mão as peças e a montar a Diretora: aqueles sapatos, os olhos de alumínio, cinzento o cabelo e a autoridade, o colarinho no pescoço de passarão, no caminhar, cinzento, meu Deus, de que fogão saía? Da borralheira só tinha mesmo a cinza? Até que Alfredo perguntou ao porteiro:
— A Diretora veio da onde? De que estória? É da família dos maguaris?
— A estória, meu Quadro de Honra, é eu te levar para a sala da Diretoria, gramar castigo.
E piruteando em torno do porteiro, soprou de boca em concha:
— Veio das ilhas Canárias?
Tinha visto no mapa em cinzento as ilhas Canárias, inventou que dali despacharam a Diretora. Das Canárias. Em tom confidente, lhe diz a professora Maria Loureiro
Miranda:
— Você me anda estudando fora da matéria, meu filho, Por enquanto as Canárias não boiaram nos mares, não saias de tua gaiola, meu canarinho moreno.
Nem por isso Alfredo se emendou, sempre saltando adiante, nas matérias. O olhar da professora lhe dizia que desobedecesse, que bom mesmo era fazer o que não convinha. Alfredo viajava para as Canárias, Odessa, os estreitos de Dardanelos, a Baía do Sol, A professora Maria Loureiro Miranda fechava os olhos, lhe abria a gaiola.
Premiava aquelas viagens, dando-lhe notas que nem merecia. A professora Maria Loureiro Miranda com o seu olhar fazia sentir que tudo que ensinava não valia muito a pena, aquele trabalho de giz, saliva e tinta era ou não era um pouco em vão? Quando via o seu aluno sobre o mapa, o dedo em Constantinopla, Índia ou Guiné, fingia uma censura assombrada e baixo:
— Mas, ah, se a professora efetiva pegasse, mas ah... E ficava ao lado, também sobre o mapa, o olhar viajante, de repente num desassossego fecha o atlas, castiga o aluno com o minguinho na ponta da orelha dele:
— Agora, desembarque, meu marujinho. Vamos, a obrigação.
Alfredo lembrou a mãe que falava da amiga rendeira, esta a enfeitar as mulheres de Muaná, sem faltar uma. Valia mais que aqueles enfeites do Barão, Os alunos saíam enfeitados de saberem isto e aquilo, e era bater o pé na calçada e da cabeça deles voava o enfeite, o Barão sumia. Também as professoras, quando saíam pelo portão, a modo que um encanto as tornava invisíveis na rua. Ninguém encontrava na rua uma que fosse. Nem a professora Maria Loureiro Miranda. Não eram desta Dois de Dezembro, da Generalíssimo, deste Largo de Nazaré, daquelas calçadas? Só existiam da porta do Barão para dentro? Aqui fora, adeus, nem sombra delas? Onde morava a professora Maria Loureiro Miranda? Quanto à Diretora, se sabia, ali de novo na caixa de serragem e cinza, com o mata-borrão da Diretoria em cima.
III
Alfredo chegava em casa correndo, horinha do almoço, como evitar da d. Celeste o sorriso quase imperceptível que dizia: me chegando tarde bem? Um franzir malmente na beca, ar de contida impaciência, um piscar entre aborrecido e zombeteiro. Chegava Alfredo no mesmo espanto e indagação: quem deve ser aquele, sempre ali na janela da casa velha do canto, o espantalho?
Podia sair e entrar na Inocentes pela boca de cima, pela Curuçá, mas, atraído pela janela do pardieiro, quebrava aqui por baixo pela Quartoze, para olhar, a ter os seus 123 espantos, a fugir e voltando a espiar de esguelha, a encarar aquela esfinge, mas de que adivinhação? Assim de passagem, era uma suada inchação a figura, e logo, podendo ver bem, algo mais que suor e inchaço e que interditava a casa velha, proibindo alguém de entrar. Só ele ali? Não, que rumor de gente pelos fundos se escutava. Não nascia da carne do rosto a modo morta nem do nariz, beiço ou da testa sobre as pálpebras fundas, o desconforme, o ar padecente. Vinha de dentro da figura exposta ao sol da manhã. Daquele silêncio e imobilidade dele na janela uma solidão escorria. As vezes, sem camisa, às vezes dobrado no peitoril, espreitava a rua, atrás do que não tem nem nunca viu no mundo, e ali desterrado, ali maldito e sempre, até que o pardieiro fosse chão adentro na goela de fumo, enxofre e fogo.
Um meio-dia, cego ao sorriso e piscar da d. Cecé, Alfredo chegou tarde e triste. Trazia o olhar do espantalho colhido de mais perto. Um olhar tão daquele poço em que estava, sempre na janela, sem voz, sem voz na janela. Pareceu sim que lhe acenou com a cabeça, e Alfredo viu, sentiu cravou os olhos no que viu, o horrendo implorava uma simpatia, trocar uma palavra, desenferrujar a língua e foi só um repente pois logo ensombreceu e olhou cara a cara o sol a pino bem na ponta do telhado. Que o espantalho de barro, pele e silêncio era um igual à gente daqui da rua, deste caminho, aqui do mundo, Alfredo não duvidou mais. E passava perto, quase rente da janela, nunca um bom-dia, atraído e temeroso, tentando a adivinhação e certo de que não estava nas suas posses adivinhar.
Casa de esquina dá azar, meu filho, não me fala daquilo, dá azar, foi a explicação de d. Celeste ao ouvi-lo.
D. Celeste preparava-se para sair. Era quarta-feira.
Podia sair e entrar na Inocentes pela boca de cima, pela Curuçá, mas, atraído pela janela do pardieiro, quebrava aqui por baixo pela Quartoze, para olhar, a ter os seus 123 espantos, a fugir e voltando a espiar de esguelha, a encarar aquela esfinge, mas de que adivinhação? Assim de passagem, era uma suada inchação a figura, e logo, podendo ver bem, algo mais que suor e inchaço e que interditava a casa velha, proibindo alguém de entrar. Só ele ali? Não, que rumor de gente pelos fundos se escutava. Não nascia da carne do rosto a modo morta nem do nariz, beiço ou da testa sobre as pálpebras fundas, o desconforme, o ar padecente. Vinha de dentro da figura exposta ao sol da manhã. Daquele silêncio e imobilidade dele na janela uma solidão escorria. As vezes, sem camisa, às vezes dobrado no peitoril, espreitava a rua, atrás do que não tem nem nunca viu no mundo, e ali desterrado, ali maldito e sempre, até que o pardieiro fosse chão adentro na goela de fumo, enxofre e fogo.
Um meio-dia, cego ao sorriso e piscar da d. Cecé, Alfredo chegou tarde e triste. Trazia o olhar do espantalho colhido de mais perto. Um olhar tão daquele poço em que estava, sempre na janela, sem voz, sem voz na janela. Pareceu sim que lhe acenou com a cabeça, e Alfredo viu, sentiu cravou os olhos no que viu, o horrendo implorava uma simpatia, trocar uma palavra, desenferrujar a língua e foi só um repente pois logo ensombreceu e olhou cara a cara o sol a pino bem na ponta do telhado. Que o espantalho de barro, pele e silêncio era um igual à gente daqui da rua, deste caminho, aqui do mundo, Alfredo não duvidou mais. E passava perto, quase rente da janela, nunca um bom-dia, atraído e temeroso, tentando a adivinhação e certo de que não estava nas suas posses adivinhar.
Casa de esquina dá azar, meu filho, não me fala daquilo, dá azar, foi a explicação de d. Celeste ao ouvi-lo.
D. Celeste preparava-se para sair. Era quarta-feira.
IV
Foi então que chegou a Arlinda.
— Aqui esta mea afilhada, Alfredo, vem ajudar no serviço, veio do sítio. Eu estava na falta duma. Arlinda, agora, ouve qual tua obrigação. Treze, tua idade, é? Teu 124 tio me falou. E olha, aqui na cidade, todo juízo é pouco. Aqui o que sobra é perdição. Cabeça na janela, nariz na porta, meu regulamento diz não. Engraçamento com gente de calça na rua nem por sombra que eu, aí, eu castigo. Sim, é da mea obrigação te corrigir, estás no meu governo, aceitei a carga. Olha, Alfredo, esta mea afilhada nasceu pegando siri no porto do sítio, remeira de jacumã, criada no rastro de bicho, ou eu minto, Arlinda? Fala, me responde, tu já me amarraste guelra de peixe no cipó pra pegar siri? Viu? Viu? O risinho, mal a mal, o risinho dela, desabotoa essa boca, desconfiada. Uma coisa que ela tem, uma coisa de bom te acho é esse teu sossego, mea filha. Ah se cada criatura tivesse o seu sossego. Ou é por sonsa? Aqui está esse meu filho, um que nunca sossega nem no sono, o Belerofonte, não te zanga com ele, aquela-menina, que senão vai ser o teu inferno. Tem uma paciência, mea afilhada, que paciência é que faz a convivência. Estás e não estás na casa alheia, vieste me servir, só que não sou malvada, tenho às vezes meus vinagres, mas não te queima a boca, te tratar te trato, contanto que tu possa de bom coração cara desamarrada servizinho um pouco o bastante que quero para movimento de fogão, encher o pote, rachar um pau de lenha, o lixo na baixa, a vigiação do porco, o asseio no quintal, atender ao Belerofonte, ir numa compra, tirar de minha mão certos cuidados. Uma sei que não sabe, é o abc. Não disse? Desentristece. criatura. Saudade? Tão anêmica que está, tu algum dia tomaste ao menos um calomelano? Comes terra? Tens vício? Não te acanha, me diz, não esconde, que eu te desvicio. E esses panos brancos, quanta titinga, marca de ferida no braço, aqui no pescoço, na perna não tem conta. Precisa é tirar isso do corpo, isso é roupa de gente? Vou cortar teu vestido dum meu velho, agora qual, não sei ainda. Piolho, tens? Não? Me deixa ver tua cabeça, parecendo que não, é um recender de pura terra, a água do teu igarapé é bem-bem tipitinga, não, mea filha? Olha o sujo na cabeça, tem terra que dá pra grelar semente. De que então estás chorando? Tu, teu tio não me deu, o que fez foi me ceder, ate emprestou, eu acabo- de te criar. Não, não estou aqui pra te sujigar a ficar comigo, não te obrigo, por mim, não. Teu tio, sim, que tudo fez 125 por querer. Mas na tua idade, mea filha, não se tem querer, querer tem teu tio, que te entregou a mim que te preciso. Mas eu-eu, de minha parte, podes crer, não te enterro debaixo da figueira. E se te dá de chorar, chorazinho um pouco, que o fadário de toda mulher desde gitinha é pegar esse defluxo. Mas quem aqui deu o trinta e um? Quem morreu? Saiu enterro? Que bobagem. Arlinda, não me aflige, recolhe essas tuas lágrimas, rapariguinha! Espera... vai, Alfredo, eivem gritando na rua o garrafeiro, me trás da cozinha aquelas garrafas, negocia com o homem, que ele não te logre...
Alfredo estremeceu, e agora com as garrafas na mão, esta de cana, a outra de vinagre, uma de litro, as garrafas na mão, as garrafas da mãe! Aqui um boião, a mãe bebia também de boião?
— Garrafeiro!
Ao pé do batente, o saco das garrafas, quase cheio. Alfredo espiou pela boca, recuou ao bafo. Igual ao da dispensa, no chalé.
Ao peso das garrafas. o garrafeiro seguiu, de barraca em barraca. Por que não ia a Cachoeira, arrecadando quanto garrafa na vila, até botija, até boião, garrafão e pipa?
— Garrafeiro!
Nisto um chuvisco, chuva de preguiça, e Alfredo voltou para a conversa da d. Celeste. A recém-chegada a boca não abria.
— ... tu não vieste para um castigo, isto aqui não é um degredo, Arlinda, aqui podes encorpar, ou não cresces, és baé? Pior era se teu tio — Deus te livre — te metesse no orfanato. Amanhã. possível, estás aí emplumada, saindo daqui pela mão dum rapaz trabalhador. Doutro mundo, não. Te assoa neste pano, toma. Prum castigo tu vieste? Te disseram isto? Vai, aquela-menina, puxa um balde d’água, te asseia, te passa sabão, te esfrega com sabugo de milho, passa folha de vindicá no braço e peito, tu precisa é duma lixa, te desencardir, minha encardida! Ariar bem teu corpo, sua pitiosa, mea papa-siri, mea papa-guri-juba, ah! peixe este de que tenho um abuso... Tu gosta, 126 Alfredo? Gosta, é? Não te gabo. Vai, aquela-menina, limpa as lágrimas no banho, já alguma vez puxaste balde d’água dum poço? Tudo de água que tu sabes é da maré, não é? Mas, fala, criatura, larga o que tu sente. Fala, passarinho baleado. Tua mágoa, me diz. Descobre teu sentimento, que eu aqui não sou tão monstra, Deus me defenda, nunca poupo o dó pros padecentes. Deste nó cego na língua, deixaste ela por lá, no meio dos siris, por um acaso? Vergonha diante de Alfredo? Vai daqui, Belerofonte! Mas... Belerofonte! Belerofonte! Não me puxa a orelha da pirralha, me deixa a menina! Mas, Belerofonte! Não arriba a sainha dela, menino sujo, demoninho, demonio me larga a menina, Belerofonte! Criatura, tenho que te fazer ao menos uma calça, Alfredo, me faz esta caridade, te distrai com Belerofonte, te peço que resolva as questões dele passadas no caderno. Vem cá, Arlinda, que ainda não acabamos esta nossa conversa. Carrega pra dentro a tua trouxinha, esta bagagem de caber numa cabeça de formiga, benza-te Deus... Mas me abre... sim, a trouxinha. Senhora de Nazaré, é a tua fortuna? E isto aqui, um cacho de cabelo encastoado? Quem fez, quem guardou, tua mãe, tua finada mãe? Nestes primeiros dias, tem paciência, entrete teu sono na esteira. mea filha, mas numa rede vais deitar, sim, que te prometo. que ninguém neste palácio dorme em chão. Vem, mea afilhada, que tu, estando aqui e não estando, dá no mesmo, crua e nua que ainda és desta cidade. E, por ser uma boa tia bimba que ela chora assim, ai de tremer o beiço! Alfredo traz, me traz dali o jarrinho de flor para aparar estas lágrimas. O bonde te atordoou? Ou é herança de mimo isso teu? Manhosa? Mas Arlinda?!
Alfredo arrastou Belerofonte para a empinação dos papagaios. Linhas tesas e altas cruzavam o ar quente da Passagem. Tabuleiro na cabeça, o paneiro de cuias na mio atrás um menino com um balde d’água, passava a tacacazeira que vendia das duas às seis na esquina da Quatorze, numa beira de calçada defronte ao pardieiro de onde o espantalho ficava olhando. Belerofonte, apanhando da mão da mãe os tostões das garrafas, voou para o ponto do tacacá. Os papagaios no ar. Alfredo, o sol lhe 127 quei|mava os olhos. Mais que o sol, era Arlinda, uma menina daquela na mão de Belerofonte? Alfredo indagava, a mão em pala nos olhos, vendo linhas no ar trançarem-se. Nem de longe com a Libânia se assemelhava. Feiozinha, mais assustada por dentro que por fora, perna piririca, até um tanto sonolenta, espertou um pouco foi com as lágrimas. E viu ainda a caladinha dobrada sobre o poço sem caixão. num jeito de atirar-se; até correu pra perto dela e a viu puxando o primeiro balde, um de cuia, e d. Celeste no lado a recomendar, a recomendar em miúdo e a dizer sempre: não te enterro na figueira, que tu és de mãe alheia e tua madrasta não sou. Alfredo se fixou na patroa, a saber se o que ela dizia era de bem, de mal; «a tia bimba» (falava com ele), a «marca das feridas» (com ele também). O que escutava, doer lhe doía, sim. Tio bimba também a próxima, ali zonza, fininha que nem a irmã do Antônio dos Alcântaras. Mas Antônio, aquele ,era sempre vento arisco, e estazinha de ar parado, cabisbaixa, sem boca nem olhos, as lágrimas abrindo um claro no sujo suado do rosto, caindo no balde. Comia terra? D. Celeste só no perguntar já não estava maltratando? Debaixo da benevolência dela, na unha do Belero, quanto não ia padecer a filha alheia? Se a menina com a cabeça respondia que não tinha vício nem piolho, a d. Celeste não parecia até contrariada, querendo que a sossegada tivesse?
D. Cecé sorria para ele, pálpebra em cima, numa pergunta: e meu filho?
Na rua, Belerofonte pisou proposital nas linhas dos papagaios, de um destes rompeu o rabo, e riu alto e cuspiu, o grupo dos empinadores cercou-o; puxado por um, empurrado por outro, Belero tropeçou, caíram em cima. Alfredo meteu-se, e lá boiou do bolo, cheio de lama, o Belerofonte chorando. Acudiu a mãe, acudiam as janelas da vizinhança. Com seus papagaios, suas linhas e um zela de muito assobio sobre a barraca, o bando azulou. Batendo os pés no acimentado da frente, Belerofonte careteava de choro e juras de desforra. O Pégaso veio, repelido a pontapés. Entre queixosa e resignada, o sorrizinho, d. Celeste se inclinou para Alfredo, baixo:
— E tu então, meu cavalheiro, cadê pra acudir, vingar teu primo, hein? Não?
128 — Mas, mamãe — correu do quarto o Belero enxugando o rosto num vestido da mãe arrancado da mala da viagem — foi o Alfredo, esse santinho aí, que pisou. Pisou nas linhas, pisou nos papagaios. E eu pedindo: não pisa, Alfredo, qual. Eu pedindo...
Nem bem ouvia nem bem apanhava o vestido da mala que queria intocável e já a d. Cecé aos gritos no quintal:
— Tu sossega, Belerofonte! Não impinima com a criatura. Não azunha o braço dela. Tornaste a rebentar a fechadura da mala, meu Pé de Bola! E tu, Arlinda, sai de detrás da bananeira! Coitadinha, fugiu nua do banheiro... Se cobriu com a folha... Entra de novo, no paraíso, no banheiro, está direitinho uma Eva... essa assustada. enroladinha na folha da bananeira. Belerofonte! Alfredo, me vale, entrete este, faz ele resolver as contas do caderno, Deus, misericórdia! E fui eu que te gerei, Belerofonte?
D. Cecé apanhou o trapo enlameado. Mais um vestido de Muaná para Belerofonte limpar os pés. De novo consertar a fechadura. O filho ia lhe destruindo os vestidos um a um, destruindo-lhe a viagem em que ficava horas, retirando, como roupa, aquela época tão breve e agora tão constante.
— Aqui esta mea afilhada, Alfredo, vem ajudar no serviço, veio do sítio. Eu estava na falta duma. Arlinda, agora, ouve qual tua obrigação. Treze, tua idade, é? Teu 124 tio me falou. E olha, aqui na cidade, todo juízo é pouco. Aqui o que sobra é perdição. Cabeça na janela, nariz na porta, meu regulamento diz não. Engraçamento com gente de calça na rua nem por sombra que eu, aí, eu castigo. Sim, é da mea obrigação te corrigir, estás no meu governo, aceitei a carga. Olha, Alfredo, esta mea afilhada nasceu pegando siri no porto do sítio, remeira de jacumã, criada no rastro de bicho, ou eu minto, Arlinda? Fala, me responde, tu já me amarraste guelra de peixe no cipó pra pegar siri? Viu? Viu? O risinho, mal a mal, o risinho dela, desabotoa essa boca, desconfiada. Uma coisa que ela tem, uma coisa de bom te acho é esse teu sossego, mea filha. Ah se cada criatura tivesse o seu sossego. Ou é por sonsa? Aqui está esse meu filho, um que nunca sossega nem no sono, o Belerofonte, não te zanga com ele, aquela-menina, que senão vai ser o teu inferno. Tem uma paciência, mea afilhada, que paciência é que faz a convivência. Estás e não estás na casa alheia, vieste me servir, só que não sou malvada, tenho às vezes meus vinagres, mas não te queima a boca, te tratar te trato, contanto que tu possa de bom coração cara desamarrada servizinho um pouco o bastante que quero para movimento de fogão, encher o pote, rachar um pau de lenha, o lixo na baixa, a vigiação do porco, o asseio no quintal, atender ao Belerofonte, ir numa compra, tirar de minha mão certos cuidados. Uma sei que não sabe, é o abc. Não disse? Desentristece. criatura. Saudade? Tão anêmica que está, tu algum dia tomaste ao menos um calomelano? Comes terra? Tens vício? Não te acanha, me diz, não esconde, que eu te desvicio. E esses panos brancos, quanta titinga, marca de ferida no braço, aqui no pescoço, na perna não tem conta. Precisa é tirar isso do corpo, isso é roupa de gente? Vou cortar teu vestido dum meu velho, agora qual, não sei ainda. Piolho, tens? Não? Me deixa ver tua cabeça, parecendo que não, é um recender de pura terra, a água do teu igarapé é bem-bem tipitinga, não, mea filha? Olha o sujo na cabeça, tem terra que dá pra grelar semente. De que então estás chorando? Tu, teu tio não me deu, o que fez foi me ceder, ate emprestou, eu acabo- de te criar. Não, não estou aqui pra te sujigar a ficar comigo, não te obrigo, por mim, não. Teu tio, sim, que tudo fez 125 por querer. Mas na tua idade, mea filha, não se tem querer, querer tem teu tio, que te entregou a mim que te preciso. Mas eu-eu, de minha parte, podes crer, não te enterro debaixo da figueira. E se te dá de chorar, chorazinho um pouco, que o fadário de toda mulher desde gitinha é pegar esse defluxo. Mas quem aqui deu o trinta e um? Quem morreu? Saiu enterro? Que bobagem. Arlinda, não me aflige, recolhe essas tuas lágrimas, rapariguinha! Espera... vai, Alfredo, eivem gritando na rua o garrafeiro, me trás da cozinha aquelas garrafas, negocia com o homem, que ele não te logre...
Alfredo estremeceu, e agora com as garrafas na mão, esta de cana, a outra de vinagre, uma de litro, as garrafas na mão, as garrafas da mãe! Aqui um boião, a mãe bebia também de boião?
— Garrafeiro!
Ao pé do batente, o saco das garrafas, quase cheio. Alfredo espiou pela boca, recuou ao bafo. Igual ao da dispensa, no chalé.
Ao peso das garrafas. o garrafeiro seguiu, de barraca em barraca. Por que não ia a Cachoeira, arrecadando quanto garrafa na vila, até botija, até boião, garrafão e pipa?
— Garrafeiro!
Nisto um chuvisco, chuva de preguiça, e Alfredo voltou para a conversa da d. Celeste. A recém-chegada a boca não abria.
— ... tu não vieste para um castigo, isto aqui não é um degredo, Arlinda, aqui podes encorpar, ou não cresces, és baé? Pior era se teu tio — Deus te livre — te metesse no orfanato. Amanhã. possível, estás aí emplumada, saindo daqui pela mão dum rapaz trabalhador. Doutro mundo, não. Te assoa neste pano, toma. Prum castigo tu vieste? Te disseram isto? Vai, aquela-menina, puxa um balde d’água, te asseia, te passa sabão, te esfrega com sabugo de milho, passa folha de vindicá no braço e peito, tu precisa é duma lixa, te desencardir, minha encardida! Ariar bem teu corpo, sua pitiosa, mea papa-siri, mea papa-guri-juba, ah! peixe este de que tenho um abuso... Tu gosta, 126 Alfredo? Gosta, é? Não te gabo. Vai, aquela-menina, limpa as lágrimas no banho, já alguma vez puxaste balde d’água dum poço? Tudo de água que tu sabes é da maré, não é? Mas, fala, criatura, larga o que tu sente. Fala, passarinho baleado. Tua mágoa, me diz. Descobre teu sentimento, que eu aqui não sou tão monstra, Deus me defenda, nunca poupo o dó pros padecentes. Deste nó cego na língua, deixaste ela por lá, no meio dos siris, por um acaso? Vergonha diante de Alfredo? Vai daqui, Belerofonte! Mas... Belerofonte! Belerofonte! Não me puxa a orelha da pirralha, me deixa a menina! Mas, Belerofonte! Não arriba a sainha dela, menino sujo, demoninho, demonio me larga a menina, Belerofonte! Criatura, tenho que te fazer ao menos uma calça, Alfredo, me faz esta caridade, te distrai com Belerofonte, te peço que resolva as questões dele passadas no caderno. Vem cá, Arlinda, que ainda não acabamos esta nossa conversa. Carrega pra dentro a tua trouxinha, esta bagagem de caber numa cabeça de formiga, benza-te Deus... Mas me abre... sim, a trouxinha. Senhora de Nazaré, é a tua fortuna? E isto aqui, um cacho de cabelo encastoado? Quem fez, quem guardou, tua mãe, tua finada mãe? Nestes primeiros dias, tem paciência, entrete teu sono na esteira. mea filha, mas numa rede vais deitar, sim, que te prometo. que ninguém neste palácio dorme em chão. Vem, mea afilhada, que tu, estando aqui e não estando, dá no mesmo, crua e nua que ainda és desta cidade. E, por ser uma boa tia bimba que ela chora assim, ai de tremer o beiço! Alfredo traz, me traz dali o jarrinho de flor para aparar estas lágrimas. O bonde te atordoou? Ou é herança de mimo isso teu? Manhosa? Mas Arlinda?!
Alfredo arrastou Belerofonte para a empinação dos papagaios. Linhas tesas e altas cruzavam o ar quente da Passagem. Tabuleiro na cabeça, o paneiro de cuias na mio atrás um menino com um balde d’água, passava a tacacazeira que vendia das duas às seis na esquina da Quatorze, numa beira de calçada defronte ao pardieiro de onde o espantalho ficava olhando. Belerofonte, apanhando da mão da mãe os tostões das garrafas, voou para o ponto do tacacá. Os papagaios no ar. Alfredo, o sol lhe 127 quei|mava os olhos. Mais que o sol, era Arlinda, uma menina daquela na mão de Belerofonte? Alfredo indagava, a mão em pala nos olhos, vendo linhas no ar trançarem-se. Nem de longe com a Libânia se assemelhava. Feiozinha, mais assustada por dentro que por fora, perna piririca, até um tanto sonolenta, espertou um pouco foi com as lágrimas. E viu ainda a caladinha dobrada sobre o poço sem caixão. num jeito de atirar-se; até correu pra perto dela e a viu puxando o primeiro balde, um de cuia, e d. Celeste no lado a recomendar, a recomendar em miúdo e a dizer sempre: não te enterro na figueira, que tu és de mãe alheia e tua madrasta não sou. Alfredo se fixou na patroa, a saber se o que ela dizia era de bem, de mal; «a tia bimba» (falava com ele), a «marca das feridas» (com ele também). O que escutava, doer lhe doía, sim. Tio bimba também a próxima, ali zonza, fininha que nem a irmã do Antônio dos Alcântaras. Mas Antônio, aquele ,era sempre vento arisco, e estazinha de ar parado, cabisbaixa, sem boca nem olhos, as lágrimas abrindo um claro no sujo suado do rosto, caindo no balde. Comia terra? D. Celeste só no perguntar já não estava maltratando? Debaixo da benevolência dela, na unha do Belero, quanto não ia padecer a filha alheia? Se a menina com a cabeça respondia que não tinha vício nem piolho, a d. Celeste não parecia até contrariada, querendo que a sossegada tivesse?
D. Cecé sorria para ele, pálpebra em cima, numa pergunta: e meu filho?
Na rua, Belerofonte pisou proposital nas linhas dos papagaios, de um destes rompeu o rabo, e riu alto e cuspiu, o grupo dos empinadores cercou-o; puxado por um, empurrado por outro, Belero tropeçou, caíram em cima. Alfredo meteu-se, e lá boiou do bolo, cheio de lama, o Belerofonte chorando. Acudiu a mãe, acudiam as janelas da vizinhança. Com seus papagaios, suas linhas e um zela de muito assobio sobre a barraca, o bando azulou. Batendo os pés no acimentado da frente, Belerofonte careteava de choro e juras de desforra. O Pégaso veio, repelido a pontapés. Entre queixosa e resignada, o sorrizinho, d. Celeste se inclinou para Alfredo, baixo:
— E tu então, meu cavalheiro, cadê pra acudir, vingar teu primo, hein? Não?
128 — Mas, mamãe — correu do quarto o Belero enxugando o rosto num vestido da mãe arrancado da mala da viagem — foi o Alfredo, esse santinho aí, que pisou. Pisou nas linhas, pisou nos papagaios. E eu pedindo: não pisa, Alfredo, qual. Eu pedindo...
Nem bem ouvia nem bem apanhava o vestido da mala que queria intocável e já a d. Cecé aos gritos no quintal:
— Tu sossega, Belerofonte! Não impinima com a criatura. Não azunha o braço dela. Tornaste a rebentar a fechadura da mala, meu Pé de Bola! E tu, Arlinda, sai de detrás da bananeira! Coitadinha, fugiu nua do banheiro... Se cobriu com a folha... Entra de novo, no paraíso, no banheiro, está direitinho uma Eva... essa assustada. enroladinha na folha da bananeira. Belerofonte! Alfredo, me vale, entrete este, faz ele resolver as contas do caderno, Deus, misericórdia! E fui eu que te gerei, Belerofonte?
D. Cecé apanhou o trapo enlameado. Mais um vestido de Muaná para Belerofonte limpar os pés. De novo consertar a fechadura. O filho ia lhe destruindo os vestidos um a um, destruindo-lhe a viagem em que ficava horas, retirando, como roupa, aquela época tão breve e agora tão constante.
129
D. Celeste a bordo
D. Celeste a bordo
Abriu a mala e desta saltou o comandante entrando no camarote.
— Minha filha, tenho que lhe desembarcar em Curralinho.
Celeste, lhe subiu o sangue. Este comandante é aquele homem? O cabelo branco em volta da cabeça, o ar cansado, o embaraço? De ontem para hoje, como envelheceu, ou já era velho e eu não vi?
— No Curralinho, no «Zé Antunes», embarca uma família...
«Não me fale em família, comandante», quis dizer, e suspeitou: está ele a par do que sucede debaixo das bananeiras? ele e quantos mais? Todos sabiam, sabiam, menos a família? E eu aqui, ingênua, aqui por excesso de inocência, de vergonha... ou porque me enjoei do Antonino Emiliano, fugi mais dele que das bananeiras? E esse, aí. o comandante, teria ido lá também? Pressentiu que eu saía, contaminada, na baba da cobra, me apanhou por isto. agora pasmou, recuando do seu ato?
— Olhe, mandei lhe preparar um camarote, é o oito, aqui perto. Pode mudar-se logo. Só trouxe mesmo esse vestido?
Semelhante pergunta! Então mandei a bagagem na frente, foi? Não foi obra de instante mas coisa de uma desmiolada sem preço, uma oferecida de trapiche e baile a bordo, agora mandava de volta? Tem que desembarcar a clandestina?
130 Correu para o oito, como se corresse nua arrastando o vestido e as fitas na mão, sentia um cheiro de alcatrão.
— Aqui tem o que precisa. Está quente. Venha pra fora.
Só, no beliche, as mãos no rosto, e a voz da porta, rouca e morna. Este vestido enorme, enxovalhado, me despe não me veste. Vestir outro quando, onde? Lá no Curralinho, me promete o comandante. Tenho que me desembaraçar deste chumbo, é ainda a mea família, pelo menos destas fitas. Não, não devo pensar que essa noite foi um simples fogo meu, um cego escrúpulo. Eu já trazia comigo a idéia de fugir, bastante foi beber a peçonha deixada na folha? Queria apenas o Antonino Emiliano pela única sensação do proibido?
Alfredo ouviu passos. Na cozinha, lamparina acesa, d. Cecé, de camisa, de onde saltavam os ombros até então nunca vistos e os braços e a transparência que saía dela, de sua mais secreta alvura. Receoso, Alfredo recua, e volta, a olhar. Ela foi ao quintal, os ombros branquejavam na folha da bananeira alumiada. Voltou, agora abrindo o colo, a transparência mais de perto, na luz da lamparina. Tinha o alvor das velhas bonecas sempre muito guardadas. No quarto, ficou rezando, os ombros na sombra, o cabelo desmanchou-se.
De repente, o Belerofonte com dor de dente, a correr pela casa e a mãe no fogão a fazer um chá de casca de cajueiro.
— Meu filhinho, dorme que passa. Amanhã vou mandar rezar no teu dente. Vamos, fazer um bochecho.
Quando veio a paz, Alfredo espiou no corredor, quase pegado porque a senhora vinha devagar, pelo escuro, envolta no cobertor da cama. Serenava no quintal, ao pé do jirau dos tajás, à espera. Estava longe, compreendeu Alfredo. Esta noite, pensou, posso dormir sem formiga na rede. Dá demais formiga nesta barraca. Seguiu o conselho da d. Romana, meia o punho da rede com azeite, de 131 andiro|ba contra as formigas. D. Cecé vai virar tajá no sereno? Longe está mas aonde?
O comandante enfiou a cabeça pela porta:
— Mas não está quente? Quer uma rede aqui fora?
— Por onde estamos, comandante?
Perguntou por perguntar, para esconder confusão, desassossego, estabelecer com ele relações não íntimas nem tão cerimoniosas, como se de repente aceitasse a simples condição de passageira. Ou noutro sentido a pergunta?
— Por onde estamos? Com o furo da Conceição por bombordo. A proa entre as pontas das ilhas do Caim.
No primeiro camarote, eu era a fugitiva, aqui neste a devolvida. Como se fosse possível devolver a mesma que embarcou.
— Disse Caim? As ilhas do Caim?
O comandante tinha desaparecido. Que se passa com ele que entra e sai, anda na promenade, desaparece, tossindo, fumando grosso? A barba, não fez, e isso é que o envelhece mais. Parece mesmo não saber o que fazer comigo. Onde o cavalheiro do baile, quem este que comanda um navio e não comanda uma mulher? Eivem de novo.
— Mas saia um pouco, Mando lhe armar uma rede na popa.
— Comandante, o feito feito está. De nada se culpe que a culpa eu quero para mim.
— Minha filha, o Zé Antunes toca no Curralinho. Olhe os seus dezoito anos. Se não quer ir logo de volta pra Muaná, fique ao menos em Belém em casa dos parentes. Ou vai para Cametá, casa de sua avó? A explicação de tudo será fácil, sem dano algum, creia. Quer a rede?
Celeste sem responder. Mandar de volta. Sem dano algum! Lá vaizinho de volta a moça fugida, a acesa por viajar, inteira-inteira como saiu. A minha idade. Idade é a que quero ter, é desta hora e me dá de menos dois anos. Tenho vinte, seu comandante. Tivesse quinze. Idade quem faz não é o tempo. Oh a fácil explicação dele. Como se desculpa! Quis sair, mas neste andrajo, do baile? Mais só, sentiu-se, mais desconhecida entre desconhecidos. Fechada 132 entre estirões de mato e água. Um cheiro que não sabia se era lodo, raiz, folhagem, bichos, alcatrão, os homens suando na lavagem do convés. Bocas da selva engolindo este gaiola arquejante, a Celeste esta. Estranha entre a tripulação indiferente, que por certo ria dela, no vapor que volteava, arrastando-se entre furos e ilhas num surdo navegar. Onde aquele navio voando em águas da noite puxado pelos serafins do escaler? Ouvia agora os baldes no convés, um apito, o resfolegar do «Trombetas», e dentro dela o desabamento de tudo que prezou, julgou sagrado. Mas dessas ruínas saltava, uma avidez pelo que lhe podia acontecer daquela hora em diante. Fui eu a escolhida para culpada? Alguém paga, pago eu. Fui sorteada para a punição. Não era do comandante o braço que me apanhou. de quem? Voltar a bordo era a sentença. E depois, e agora só, culpada, punida, voltar sem dano no «Zé Antunes» ... Aqui está de volta a doida que meteu na cabeça de viajar, trancou-se a bordo do «Trombetas», só mais tarde foi que o comandante soube, deu com ela: mas, mea filha!? Mas como? A fácil explicação. O Muaná saboreando. O pai, a mãe, as irmãs, caras de retrato em parede, na porta a recebe-la. «Minha filha, pode embarcar no Curralinho, em companhia de uma família... Pois da família não fugia? E dela lhe pesa ainda este fantasma de vestido. este suor, esta palavra do comandante. Meu Deus, quente está, sim. Mas sair, despida, de camisa? Neste em que estou eu, não, nunca mais. Eivém o meu carcereiro. O rosto na porta, abrir não abre. Lá se vão os passos dele, um apito, uma volta, nem um vento, nem um estremecer lá do mato, aqui dentro queima. Disse ilhas do Caim? A impaciência dele, o olhar de apreensão e incerteza, mais barbado, sem sossego em todo o navio, dizendo «minha filha». Um instante me viu como no baile, e senti nele tal e qual aquela impressão que causei, vi no padre Daniel em Muaná. Vejo agora cair-lhe o braço, não mais aquele da noite. Ah, me sinto só, me sinto livre, escolho o meu rumo, um passarinho solto, já então... Solta-solta, sim, podia escolher. É a minha vez, eu salto daqui, vou me embora no Amazonas, solta e por isso mesmo retida no beliche, sufocada por tão livre, aqui escrava porque tudo posso consentir e querer.
133 Abriu um pouco a porta e viu, de costas, o comandante na amurada, o fumo grosso, o dólmã desbotado, descosido no braço, as pernas sem sossego. Vê-lo assim, montando guarda defronte do camarote, dava uma segurança, ao menos protegida sentia-se. E eu que esperava ter terror, dizer-lhe um «não» desesperado quando o visse entrando, um «não» sequioso de dizer «sim», que fosse o adeus Cecé do Muaná, não mais Coimbra nem Oliveira. Celeste só. E aquele abraço que o puxou das bananeiras, era o mesmo que às bananeiras a devolvia? Eu que me atirei a ele, meu foi o desatino, meu só, dele nenhum? O homem de costas, o dólmã descosido no braço e este apoia-se no balaustre, aquele silencioso sobre as ilhas do Caim que fervem no sol. Num caldeirão viajamos? Esperava-o a qualquer instante e veio aquele pai.
Sem se atrever a sair, enxugando o suor, estirou-se no beliche, molhado o vestido nas costas, peito queimado a modo de uma febre. Lá fora restava ele. a proa entre as ilhas do Caim. Bombordo. Bombordo. E eu aqui, estou a boreste? A bombordo? Aonde minha proa? E o suspiro e meio e o cavalheiro de ontem à noite, a boca na orelha da dama, solando palavras que agora não sabia quais e o braço na cintura dela bem fundo e dele o olhar semelhante ao do padre Daniel?
Por falar no padre, umas passagens em Muaná, na ausência de Antonino Emiliano, valia agora tirar a limpo, sem doer a consciência. Sim, não se fazia de muito rogada a tais e quais olhares dum, doutro rapaz sempre da cidade que lá aparecia, casual, mas conforme, não um qualquer. Simples passatempos, só, pois não era ainda pedida para se proibir disso, quanto mais que a sua família açulava, tecendo para a Celeste mesma riscar, com a sua mão, o Antonino Emiliano de uma vez. Viro e reviro, não encontro nada de mal que tivesse praticado. Mas a um rapaz, nem todos, que custava um sorriso? Tirava pedaço dela puxar uma conversação? Demais ser acompanhada no largo, debaixo da mangueira bem na luz do dia, no trapiche, dava que falar? Maldar, fazer o querer da família, provocar o suite de Antonino Emiliano, disso não cuidava. Que-que me comprometia? Dançava, sem tanto efetivo, tirada 134 sempre, podia dizer não ao cavalheiro? Também servia para fingir diante da família que nem um pouco de Antonino se lembrava e ao mesmo tempo para que os rapazes fossem falando bem de Muaná, da distinção das famílias, o natural desembaraço das moças muanenses, moças do interior, sim, nem por isso ignorantes da sociedade, não poucas instruídas em Belém. Só mesmo pessoa muito abaixo havia de chamar isso de péssimo proceder, abusar da ausência de Antonino, tirar bom proveito das facilidades que a família dava a esse faz-que-namora-não-namora mas vá ver que tira o seu fiapo. Eu tirei? Troquei olhares, gostava de ser tirada pelo par que eu de longe escolhia, uma e outra vez e correspondia assim de leve a um aperto dançava nem para o lado do escândalo, nem do lado da inocência. Porém, hoje, cismo. Fiz falsidade? Celeste, puxa pelo juízo... Mas xõ, cisma besta. Coisa nenhuma! Bem... Podia ser uma influencia repentina, um avoamento, aquele momentinho só. ofendia? Mas por um fogo aceso de cálculo? Namorisco? Faltando proposital com a palavra? Isto que não. Vamos que eu praticasse as coisas que. os de fora enxergavam e eu de mim não via, sem o leme de meu juízo? Sabia o que dentro de mim se passava? Coisa que eu fazia, embora nada demais, já não conspirava contra o meu pensar? Os demoninhos de dentro não burlavam as minhas sentinelas? Que é que me mandava olhar, se era melhor não olhar? Segurança do meu sentimento? Certeza de que eu mal não fazia? Muitas passagens houve, agora passo a limpo, repasso o caderno. Tudo bem na vista de todos, nunca escondido, sem um cheiro de maldade, a mil distância da segunda intenção. Mas, por exemplo, aquele ao despedir-se dela no começo do trapiche, hora do navio largar, o sino chamando para a ladainha na igreja? O rapaz, tão do desembaraçado, solou: Menina, menina, menina! Não se espante se uma noite eu vier lhe buscar no meu barquinho voador, ah, mas não se espante. Eu lhe carrego comigo. Olhe que eu lhe levo... Que eu lhe levo, eu lhe levo. É que a menina está que é uma beleza, ah está, está! E estalou os dedos e estalou a língua e olhou o céu, numa voz tão de agradar entoada, alegre a mais não ser, nunca Antonino Emiliano lhe tinha 135 falado assim, assim lhe pegado a mão, se bem que tanto se atrevesse em coisas muito mais que ela sempre ia barrando. Aquele, não, ali, ainda no claro do cair da noite, curvou-se, apanhou roçou nos lábios a mão que ela mais que depressa puxou e logo no rosto empinado do rapaz o sorriso de quem acha sal em tudo, divertido, sabia encher um balão. Caçoava? Debicava? Cínico? Parecer não parecia. Tenho que não. Alegre, sabia que sim. Era um moço judeu, por apelido Samuca, dava de dizer graça nos bailes e almoços comemorativos, no terraço do Grande Hotel parecendo vendedor de máquina, levado em Belém às festas de caridade para um número de humorismo no palco. Mentia, ou era por um despeito, quem viesse falando que o Samuca não fazia rir. Moço da sociedade, se dava que se dava com gente de beira de praia, chegava de imitar até a fala do caboclo, não por caçoagem mas por um carinho, uma intimidade a mais com eles. Bebia com abaeteuara no meio das frasqueiras de cachaça; na proa das vigilengas chegando estas com o peixe do Salgado, comia piramutaba em prato de folha e com a mão, estalando a língua no caldo do peixe; prosava de igual para igual com as velhas mulatas de tabuleiro atrás do Mercado de Ferro discutindo preço e vantagens das ervas, cascas e raízes de banho, remédio e puçanga. Um e outro instante passava uma morena de São Brás ou da Pedreira, cintura estalando no vestido e ele ia, roçava o nariz no cangote da faceira e Ah! suspirava e fazia que desmaiava já no braço do canoeiro, seu conhecido, que lhe acendia o cigarro. Um fino rapaz. Beijou-lhe a mão, o navio apitando, corre que tiram a prancha, ao primeiro toque da ladainha. Mas isso não lhe quebrava o sentimento pelo Antonino Emiliano, tão acomodado nela, atiçado pela perseguição das famílias, lacrado com uma jura entre os dois de nunca vergar o pescoço, abrisse a seus pés o inferno. Ou já então, embora de boa fé. traía? Lá pelo fundo o sentimento azedava, conservado apenas pela própria teimosia? Pressentimento não teve. Tão natural já era contrariar pais, chuva, lama, escuro, língua alheia, sua preguiça, para encontrar-se com ele nos atalhos e becos do mato, correndo os riscos que sopram, em tais ocasiões, da parte do homem! Tão habituada que, suspensa a lei, o sentimento adeus? Bastou o 136 choque das bananeiras, para disparar até este beliche, a estas ilhas do Caim, com o carcereiro aqui defronte?
Repassava o caderno, o beliche fumegante, das águas este mormaço: o navio escaldava.
E quando em dezembro, Antonino, retido em Belém, a tirar um dente inflamado, eis que chega para fazer a festa, por doença do padre Pinheiro, um colega deste por nome Daniel Jesuflor Lira? Primeiro foi achando graça de semelhante nome, Jesuflor, a rir, a chamar: é o padre Jesu, uai! Mas, confessava, tirou uma linha daquele pedaço de homem dentro do padre. Como principiou, sabia bem? Viu-se ao pé do reverendo, este novo, rosado, a rigor no seu ofício, a apaixonada voz enchendo a igreja, o órgão, os cânticos, o latim bem soante, o temor e respeito de Deus em boa garganta e dom. Deu com o padre olhando, um perdido olhar em cima dela, meio adivinhando. Apanhava ela um pouco descuidada, um pouco sem defesa. Mas foi firmar meus olhos, de mim tirou os seus. Do padre não se podia dizer: esse, hein? esse é mas não é triste. Um olhar de muita responsabilidade em que se via surpresa, medo, um estremecimento... E quanto a ela, pela primeira vez, ia sentindo ter causado uma impressão séria num homem, que não sentiu nos outros nunca viu no Antonino Emiliano, este seu conhecido desde os cueiros, quando entre os dois nas brincadeiras não se sabia qual o macho qual a fêmea. Noutro dia, outro olhar do padre Daniel ao borrifar a benção ou a meter o sol na boca da pagoa, em cima da pia, a pagoa berrando, Celeste, a madrinha. Ele a sério, batizava à sustância. Padre Pinheiro, ao contrário, batizava um pouco na troça, a três por dois, anda, padrinho, depressa com esse Adão, urgente para pegar a merenda das dez nas Albuquerque. Esse outro olhar do padre Daniel, menos insistente que admirado, não cobiçava nem seduzia, sem prática de olhar mulher mas com um saber olhar de nascença, que lhe digo, é raro. E foi que lhe deu aquele seu repente de se chegar pertinho do padre, num jogo de curiosa, quis tirar uma dúvida, desatar um mistério, sorriu secreto, olhou frente com frente, um olhar de quem não quer dizer dizendo e logo arisco foge, corre os bancos e santos da igreja, vem e vai, disfarça, de 137 repente pouco ou nenhum caso faz, nada mais transparecia, boa noite, reverendo. Donde, como aprendi a arte?
— Gostou do Muaná?
A pergunta dela noutro dia, num batizado, em tom confidente, era de quem queria tirar uma confissão, bulir com o homem ali debaixo do padre. O padre, de rosado, então que ficou mais. Porém não se precipitou, um fino falar, embora muito intrigado, esquivo, logo se despediu. Lá por cima das cabeças dos fiéis, notou Celeste, de longe vinha dele um olhar furtivo, um quase desesperado olhar, sentiu ela. Ou não? Talvez se enganasse, agora cisma, retocando o quadro, (ah nem um leque neste beliche, tudo fora tão parado que até parece que o próprio navio nem anda?)
E lá no púlpito o pregador, que voz de homem! Dos mistérios da Santíssima Trindade que falava, descia uma espécie de conversação com ela não em palavras mas no tom da voz, nos gestos, no rosto que as velas ao redor aureolavam. Tanto agradou-se ela do olhar furtivo, daquela voz sobre os fiéis não lhe falando de Deus mas do amor, que, ao pé do leilão, no arraial, Celeste ao seu lado sentou, com muito respeito, um assunto puxou: Por que não uma Pia União de Filhas de Maria em Muaná? E arranja afilhado, leva na pia, ornamenta o altar, toda noite na novena, de véu no confessionário, noutro dia comungando, borda um pano de altar, ajuda a arrumar a sacristia, deixa uma rosa no púlpito, um raminho no livro da missa, e o fio Ezequiel: mas, gente!? Se admirando sem uma suspeita, um pigarro, na maior das inocências: Assim, sim, d. Celeste! No púlpito, o orador citava palavras de São Paulo. Celeste entendia como declaração de amor. Que fervor esse dum dia para outro? lhe indagava a mãe, quem sabe já maldando. Ela respondeu, entre atrevida e graciosa: me pego com Deus para amansar a perseguição da família. A mãe (aquela, hein?), fez que não entendeu. A mãe não podia escapar o embaraço do padre ao pé da Cecé. O fundo reboliço dentro do homem, Cecé via no rosto do padre. No largo, depois da novena, escondia-se, a espiar o padre sair da igreja. Ele corria ansioso os olhos pelo arraial, «E Celeste?» seu olhos indagavam. Então ela aparecia, o padre fingia:
138 — Oh, estava aí?
E viu nas novenas que o padre falava de Nossa Senhora como se falasse dela. Celeste Coimbra de Oliveira. Foram uns dias relâmpagos, até que Celeste ao confessionário, ajoelhada, ouviu dele, quase surda, a confissão. Escutou cabeça baixa, véu no rosto, chovia muito, pouca gente na igreja, morcego voando, umas sete da noite, queimava incenso. Ele se confessava. Celeste compreendesse o que significava abandonar a carreira, Deus o queria casado com ela, sim. Sabia francês, outras matérias, viveria de ensinar em Belém ou S. Luiz do Maranhão. O que ali dizia era tão grave como se estivesse perante Deus. Doía-lhe era fazer daquele confessionário... Não queria de modo algum profanar ou que o sacerdote saísse dele diminuído. Celeste quis arrancar o véu, desfolhar o rosto ardendo diante dele, lhe doeu um joelho no chão, tossia.
— Se me ordenei foi porque senti a vocação. Eu me sentia seguro, tranqüilo, certo de que... Mas está sobre mim outro poder.
Celeste roçou os joelhos, um ah pela garganta, quis fugir, quis rir e não riu, ficou o tempo de escutar tudo. Um poder sobre ...... Ergueu-se, se benzeu, dizendo-se que em nada-nada se abalava o seu sentimento pelo Antonino Emiliano, mas exaltada, subindo naquele se-declarar do padre Daniel, cochichado tão a sério, tão profundo, ao pé do confessionário. As mãos do padre, que desassossego, e o seu olhar de atormentado quando pedia a resposta, a contrição dele e ela sem fala, ralando o joelho na pedra? Noutro dia na missa, Celeste, no coro, o viu erguer o Cálice. Dentro do Cálice, se sentiu um momento, sim, do que se assustou, teve de rezar depressa, cantou, estava naquele instante não sabia como, só depois no navio e agora nesta barraca de Inocentes sabe o que foi: feliz. Então não sabia o que era bem a idéia, o sentir-se amada, amada contra o proibido selado no altar, diverso dos riscos profanos que atravessava com o Antonino, este meio incréu. E foi que recebeu dele a carta: Já estava violando o seu dever, dizia. Já não podia rezar nem falar aos fiéis com aquela naturalidade e verdade com que exercia a missão. Estava certo de que não era a fragilidade de sua vocação que o levava àquele sentimento. Quando mais amoroso dela mais 139 pregado estava no seu ofício. Porém temia falar do púlpito só pensando nela, por isso lhe escrevia decidindo, a carta era a prova, lhe mandasse dizer sim e rezaria em Muaná a sua missa derradeira. Celeste, sem uma palavra, lhe devolveu a carta. E ria, depois, ria de que? Caçoava? De se sentir num andor, de poder dizer não, saber o quanto podia sobre um homem para arrancá-lo daquele altar, púlpito, pia, paramentos, latim, coroa? Ou por ser feliz, nada mais? E consentia para saber até onde ia ele, até o limite além do qual o padre podia trair-se publicamente, quebrar o sigilo, destravar lá de dentro o seu apetite do mundo. Ou mesmo paixão a tal ponto? E agora, padre Daniel, desate, e agora, para me tirar do seu labirinto? Se agarre no Santíssimo, passe na prova! Pois vou ao vosso socorro: o instante em que lhe ditei:
— Me escute, padre Daniel, com Deus Nosso Senhor fique, que é desse Antonino Emiliano daqui do Muaná, que eu gosto, sim. Uma sorte me diz que é, reverendo.
Disse «reverendo» quase por um gracejo, uma falta de respeito. E as coisas que falou, falou por um desafio, para tirar o padre a limpo? Para lhe dar um tal vexame, uma vergonha, arrancar dele um desvario de me querer me cobiçar agora com um cru apetite, um fanatismo de santo e ao mesmo tempo de um possesso, desencabeçado pelo meu não, pela maçã que mostrei não dei? Estive certa no que falei? Ou não cortei pela raiz? Me neguei ou esperava que o padre, na ocasião, arrancasse de cima dele aquela batina para poder arrancar-me o vestido? Deus via? No âmago de tudo aquilo, já estava a Celeste de agora, esta que saiu das bananeiras?
Decerto, sim, parecia, — quem sabia? — que ao fugir do quintal, fugia de si mesma, sentindo-se em lugar da outra no que viu, ela mesma e não a outra, ali debaixo das bananeiras; em vez da peçonha, matando a sede, fazendo sair do peito, das partes, do sangue, da garganta, o dilacerado ronco de porco, aquele grunhir de toda a família que se virava ali num lobisomem. Sabia? Certo foi ter saído de lá com o peso de todo o casarão das Oliveiras nas costas, o casarão desabando e do meio dos destroços aquelas bananeiras subindo de novo e na mais alta folha a peçonha guardada que ela, Celeste, no dente recolheu e agora no 140 «Trombeta» à espera do seu caçador para que este o braço estenda, a boca ou que seja, e assim com o seu dente desvairá-lo em cima desta caldeira.
Mas o padre? Ah, Celeste, tua cabeça ainda vira, vira ainda... O coitadinho do padre? Sim. Quando é noutra noite, finda a novena, Celeste ao trapiche com as amigas, espalhando no ar do rio o ar da igreja, a noite tão bem agasalhada naquela água e esta bem nos acalantos. E não foi que ao pé dela estava a pura visão, o padre em pessoa? Celeste se estremeceu, disfarçou:
— Por aqui, padre Daniel, olhar o rio?
As amigas — sem maldade? — por simples brincadeira? — apressaram o passo na frente, Celeste e o padre bem atrás.
— Tomásia, Anália, Elza, meninas, que pressa é essa. Mas esperem! Vão cair no rio? Escutam aqui o que o padre está nos pedindo...
— A ti só que eu peço, Celeste. Mas se quiseres, que elas venham escutar. Espera, eu chamo...
— Não, não, padre Daniel, Deus nos livre, não.
E lhe deu a covardia e falou num tom que não era mais dela:
— Mas me escute, padre Daniel, é o que já tratamos. Eu carregar com o peso de lhe tirar da igreja? Eu quem sou eu? (ó Elza, Anália, Elza!). O sr. é muito moço, vai ser um bispo que eu sei...
Quis dizer: o sr. é mais que o Antonino Emiliano, mais bonito, mais instruído, mais inteligente...
Mas só fez foi chamar alto:
— Venham, seus diabos!
Pôs a mão na boca pelo que chamou, disse depressa:
— ... minha sorte é casar com aquele rapaz, é. Até que pode ser que seja o sr. que nos case, quem sabe? Deus que sabe, não? Oh mas aquelas meninas parece até que se atiraram no rio... Reze por mim e agradeça à Mãe Santíssima pelo passo que não vai dar, padre,
O padre não se afastou, sumiu, sumiu-se feito um espírito. Certo é que ela, no mesmo que falava, lhe quis dar 141 bem na boca o beijo que nunca deu nem nunca mais soube dar num homem. Pode hoje decifrar? O que disse foi direito?
E lá subia ele no púlpito, última novena. No engasgado sermão do padre Daniel falava um homem ferido. Cecé fugiu, se meteu em casa, e rir era o que fazia, um rir chorando, que bom era, e lá por dentro, sim, uma coisa, fino e fundo, bem que lhe doía, e muito. Três anos atrás. Se agora o padre a encontra em Belém, se de tudo souber, ou já sabe. Caso como este voa. Mas me importa? Foi que naqueles dias de dezembro, feliz, feliz, ela era. Agradecia isto ao padre? Ah, tão ferido como homem. Mas que marido sairia dali? Que faria ele de mim, e eu dele? Cortei fundo aquela criatura?
A um berro pelos fundos do quintal, d. Celeste salta de bordo, desceu do padre, acudiu a Arlinda que se debatia nas garras do Belero. Mandou que a menina acendesse o fogão, espiou Alfredo debruçado nos cadernos. Ele lhe ouviu um suspiro, o passo incerto no quarto, novamente a abrir e a fechar a mala, o resmungo que parecia contra o filho, a suspeita de cupim rondando a viagem ali guardada. Tornou a abrir a mala, deixa cair a tampa lembrando a Alfredo aquela dum caixão de defunto visto na casa do velho Abade que fechou tão fundo. Já lá estava d. Celeste na cozinha de onde saía, por toda a casa, a fumaceira da lenha molhada, lenha verde. Arlinda tossia. Belerofonte gritava que morria sufocado.
Lá pela meia-noite voltou d. Celeste à mala velha, agora só em pensamento, deitada que ficou na rede. Na cama roncava o marido.
Proa em cima do Curralinho. Farol no trapiche. O liso da água no largão esticado da baía, nem um ar de vento. Curralinho. Apitou, soa o telegrafo, expiram os bofes do «Trombetas», cheiro de chegada.
142 — Prancha fora!
Aqui será Celeste baldeada pro «Zé Antunes». E este, que sinal deu? Passou? Atrasou. Afundou?
— O «Zé Antunes, comandante?
— Passou, O trapicheiro sabe de outro chega-não-chega, o «Tuxaua». Mas feche a porta, olhe a invasão dos carapanãs.
Dos carapanãs ou dele, homem, não se garante ao passar porta a dentro? Só os olhos na meia porta. E esta se tranca, o peso enorme deste vestido me puxando pro chão, me afundando feito a força dessa água toda aí debaixo deste navio. O navio muda de posição, a maré puxa. Os porcos que puxam. As fitas são pernas, e pelos de uma aranha eriçada, O comandante, agora à noite, é uma sombra de mescla, pisando pesado, assoa-se grosso, vem, revém aqui defronte, a voz cada vez mais de pai, mas aquele seu assôo não.
— Vou buscar as encomendas. Quer Ir em terra? Com essa chuva de carapanã não lhe aconselho.
Tão ligeiro pra me devolver, quanto foi ao me pegar na borda... «Zé Antunes» ou «Tuxaua», lá vai de volta a fujona, a mal fugida, entrando em casa de rabo murcho. Põe na cabeça, filha de minha mãe, que és uma moça Oliveira que não foge nem se mancha em público, basta que tenha bananal no quintal, o chiqueiro da noite. Desinteirada ou como nasceu, Oliveira sou, sempre família. Clemência, santo Deus, que boas vindas-estas, que zinideira de carapanã entupindo o navio! Ah! Apaga a luz, fecha bem a vigia, mosquito de escurecer. O ódio e sede e clamor e fúria das quantidades deles em cima do navio, na pele, no sangue da tripulação, sangue fresco, sangue, que esse daí do que resta do povo do Curralinho é um sobejo ralo. A tripulação fere a luta, bate pé, se dá palmada no rosto costas, por dentro da roupa, sopra, engole mosquito, cospe e injuria, novas quantidades, de desesperar, tomaram o navio. Aqui é a fábrica? Aqui é a mãe da febre? Ao peso de uma escuridão morna; atrás do capinzal e folharais. as velhas casas se agacham e se escoram na solidão, no tão antigo, adeus borracha. Foi abrir um pouquinho a vigia 143 e um jorro de carapanã no rosto, Aqui parece que pode-se dar uma profecia.
Mal atrasou, saltou o comandante atrás de uma loja, que ele disse existir ali, a do coronel Serra. Ia atrás dum vestido feito, que sabia ali, de moda muito antiga, guardado numa caixa, encomenda de quem? Quem essa, ou esse que, pai, noivo, padrinho, mandou buscar e quando chega é a circunstância da borracha ter baixado, o crédito não deu mais, a seringa pelo preço inesperado não comprou nem os mantimentos do trivial, o vestido mofou anos, agora servindo a uma flagelada, esta do Muaná. O comandante vai catar uns dois mais vestidos, fosse de que pano, ou feitio. Três vestidos, corpinho, anágua, combinação pele de ovo, calça, chinela, um pó de arroz, o navio espera. Tuxaua» não passa nesta maré! Corta, prova, cose, num enfiar da agulha que chegue a madrugada, tem senhoras neste interior de mão muito ligeira, infalíveis nos seus ajustes. Celeste, por seu enxoval, que fique nesse calor escuro palustre, neste aguaceiro de mosquito, em que casa? A. espera do Tuxaua», provando os panos. Como será o vestido novo antigo conservado na caixa, sempre aguardando a moça, esta, sabe-se lá, num escondido de igarapé, confim dum seringal morto? Que feito da moça? Em que estado se acha a encomenda? Crepe georgete? Crepom-seda? Gaze, cambraia, linho, gorgorão, cetim, de Paris, com certeza? Onde a moça que encomendou? De boa memória, o comandante achou que tinha o meti tamanho, os mesmos ombros, a cintura... Aqui não parecia tão pai, a esfregar as mãos como se alisasse a que pegou no baile a bordo. Apitou um, lá fora. «Tuxaua»? Por Deus que não desembarco. Fugi, não volto. Caranguejo, dá feita que sai do buraco não acerta mais entrar. Não é só medo, é uma vergonha, é uma ira.
Não era o «Tuxaua». E assim procedia o comandante na providencia da roupa, um leque também. Mas ah, se os carapanãs não arrombarem esta porta, posso esperá-lo, viva. Cubram de terra esse Curralinho até sete palmos. que isso aí entregou a alma ao diabo, já faz muito tempo. Nossa Senhora, como zoa macabro este carnaval!
144 Chiam as entranhas do «Trombetas». O foguista deste vapor não é o próprio, sou eu, aqui nesta fornalha. Maquinista, pessoal do fogo, soltem o vapor, abram a caldeira, esguichem água fervendo em cima desta invasão. Os diabos nascem no ar, da escuridão morna, ventania deles. O comandante tarda a desencavar o vestido de pura fantasia, arquivado na velha prateleira. Tanto que falou dele o comandante, ao chegarmos no Curralinho! Desapareceu pelo trapiche de esteio abalado pela maré, tabuame solto e podre, o marinheiro na frente, farol na mão, os dois pelo capinzal, atolaram-se no escuro. Em busca da loja do Coronel Serra. Bateu. O marinheiro de farol erguido se abanando, acossado pelos carapanãs. Bateu de novo. De boné se abanando, o comandante chamou: «Coronel Serra, ó Coronel Serra!» Ninguém sabe de um navio no trapiche? Parece que ninguém acordou? Que importa a Curralinho um navio que passa ou atraca, por mais que apite ou desembarque o comandante atrás de vestuário para a moça que a bordo se refugiou com roupa de baile? Bateu, bateu. Uma tosse lá de dentro, alumiou-se o balcão.
— Coronel Serra, é o comandante Assunção. Estou com o «Trombetas» no porto.
— Boa noite, comandante. Que milagre esse? Fez escala?
— É, Coronel, Forçada. Prancheei para lhe tomar aquele vestido.
E sobre o espanto do Coronel Serra o comandante corre os olhos pelas prateleiras quase vazias, o monte de redes, a peça de morim se acabando, a vara do metro, a balança enferrujada, umas botijas, o São Miguel no quadro à espera de freguês, uns bostoques na poeira, o bolor do comércio morto. Amarelo da febre e da ruína, acuado no balcão, o Coronel Serra. Aonde anda a encomenda de Paris? Aquele que atravessou o Atlântico, outrora novo, nunca velho, que veio feito?
Celeste, nas imaginações, olha, acompanha, faz o comandante na loja. E de repente: Esse tal vestido, esse-um alheio eu vestir? Era, se fosse. Jamais. Jamais de me cobrir com os desejos e sonhos de uma senhora ou moça, 145 que não se regalou do que mandou encomendar ou lhe prometeram e nem viu. A vida inteira com o juízo no vestido. Talvez hoje defunta. Visto eu e vem, chega a alma da dona e se mete no meu corpo? Ou da feita que eu vestir vira em pó? Variou do miolo aquele comandante? Que lhe deu de me presentear com uma vestimenta que chegou com a fatal notícia, trouxe a calamidade? E eu que não disse: «Não, comandante. Eras desse vestido»? Um traje de Paris chegando de cambulhada com os preços da borracha caindo? É de crepe, mortalha dos seringais? Quem sabe para uma alegre de bordo, Belém-Manaus, Manaus-Belém, e antes de encostar neste porto lhe deu a terça, encostou de vez naquele?
Estava escrito que ia ser seu, lhe disse o comandante. Talhado na sua medida. Basta soprar o mofo, os longos dias mortos. Pelo menos usar nas últimas horas de bordo, faz de conta que se fantasiou, que vamos dançar a derradeira valsa. Ela ia vestir aquele tempo, cobrir-se do outrora, o vestido a esperou anos.
Decerto um modo dele em disfarçar o arrependimento. emendar a aventura, fazer de mim a sua miragem. Ou porque estou nesta lonjura, me faz, de índia urubu, me amansa com miçanga? Adoça uma que está pelos extremos? Me traja assim para esse rio aí de cima, o Amazonas, com quem me caso ou me amigo, porque daquele homem só oiço o grosso assoar e sempre a voz de pai e nesta fotografia as três crianças me apontam o dedo.
Ou quer dizer que vai levá-la assim trajada para a cabeceira dum ermo onde se escondeu o tempo antigo, onde hoje não tem, só ontem?
É a encomenda da Europa, que o comandante Assunção quer levar, responde Coronel Serra à mulher que enfiou pela porta dos fundos a cabeça indagadora e atrás dela uns saltados olhos de menina louca por uma novidade. Amanhã, ou agora mesmo, Curralinho vai saber que o comandante Assunção, do «Trombetas», entrou pela casa do Coronel Serra, num jeito mal-assombrado, doido de carapanã e na obsessão dum vestido, aquele, que veio com a notícia». Nos quartos, debaixo dos mosquiteiros, pela 146 cozinha (Depressa um café pro comandante), os de casa pulam da toca cochichando: o comandante com uma no «Trombetas», mandou arriar o traje. Nem o Coronel Serra sabe mais quem encomendou? Sempre fez um meio mistério. Preferiu calar, avaro da memória. Receia entregar a encomenda ao comandante Assunção? A que preço? Mas a caixa ninguém abriu, ninguém sabe a cor da encomenda, como chegou ficou, as mulheres da casa tiveram medo, mesmo o Coronel Serra proibiu duro de cara feia e foi na ocasião do azar que deu.
Celeste tem um breve regozijo: no mais, o comandante obriga-se a servir-me. Para que eu queira voltar, me adula, me rende obediência. Assim passa o navio ao meu comando. Muda a rota, altera a escala, por mim. Fretei este navio de graça, meu para a minha viagem, meu deleite e danação.
Mas a idéia desse vestido, não é que foi o comandante mesmo que mandou buscar a preciosidade, e quando chega, vê a dona nos braços do que chegou primeiro, nos píncaros, em Manaus? E aqui o seu Assunção, de vestido na mão. «Não fale nada, Coronel Serra, me guarde isso até um dia». Agora quer vingar-se de sua sorte na minha, me apanhou, me trancou, me soltou na boca do mundo, me trazendo na mão o vestido enjeitado. Quer me vestir e dizer: olhem, ela se ofereceu, rejeitei. E dei um moda antiga para lhe cobrir a vergonha.
Que conta deu Celeste de seu orgulho, o pavio que se abria dentro dela, cadê? Acenderam-lhe a mecha, disparou, foi pegar a peçonha, pegou que foi uma fúria. A esse comandante, tão fácil era dizer: olhe, volte, menina. É a sua família, Isso é sua idade. E lá anda o meu tutor atrás do que possa me vestir, me lacrar, me por um espartilho de ferro, fechar-me, tornando-me mais inteira do que vim. Agora não é a mão que estende e me puxa, é o seu juízo que me lança do navio para voltar ao meu sobrado. Cadê as plumagens, Celeste, as asas, Celeste, tuas alturas? É o chão que, a seus pés, se abre? O galante de bordo foi um espírito que se atuou nesse papai de agora. Quando é depois, o médium acorda, vê: tamanha donzela a bordo? É aquele espanto de inocente. Vivou carcereiro. Lá está 147 o Coronel Serra a fazer subir o tapuinho de costelas de fora para desencantar da prateleira o vestido.
Mas tudo isso, ao pé da vila de breu, mosquito e febre, põe também em Celeste um ardor de quem dá de face com os seus dias futuros, qual sejam, sabia lá, mas dela, a concha que vai abrir-se na força do rio acima ou rio abaixo. mesmo de volta, um viver outro, que ela queria, pedia. Vê o vestido na mão do comandante, o vestido vem no escuro, com um poder sobre a treva, sobre os mosquitos, o navio espera o vestido. Em breve o capinzal será dos vaga-lumes e aqueles buracos no escuro de repente janelas.
D. Cecé, no quarto, como se acordasse assustada, vai, quer ver a rua, experimenta o ferrolho da janela que não abre, Na cozinha, vira a cancela dos fundos. Bebendo a água da comida que lhes dava a dona da casa, toda noite, os tajazeiros vigiavam. Só a folhagem ali por cima se deixa alisar macio pelo primeiro sopro da madrugada.
Abriu o camarote e suspendeu o vestido, alto. Celeste recuou, olhando o azul-marinho da saia, a renda nas mangas, o tamanho que era o mesmo dela... O comandante tão absorvido ficou no exame, na contemplação do vestido.
— Talvez o «Tuxaua» não encoste, minha filha. Seguiremos para Breves. Lá é mais seguro para embarcar. Menos carapanã embora com mais azar de apanhar uma febre. Tome, estava escrito que era seu, ao menos por esta noite, por umas horas para guardar de lembrança. Mas não é um lindo...
O comandante escondia-se atrás do vestido no alto suspenso por mãos invisíveis. Foi quando Celeste ouviu o «Trombetas», desatracando, soava o telegrafo, a entranha em baixo se agitando. O comandante quer me vestir para se dar à ilusão de que sou a outra ou de que só assim lhe cabe me apanhar e levar-me ao seu camarote? O navio ganhava o largo. Celeste continuou de pé, a contemplar naquele vestido sabia lá que visões de um rio cheio de 148 vapo|res banhando seringais e trapiches fartos. Impossível para a outra e tarde demais para mim este vestido. E ali atrás, de rosto oculto na saia, aquele homem.
— Sacuda um pouco, comandante, que em pó se vira. De novo o rosto do homem, dobrado, no braço, o vestido.
— Vista ao menos até Breves. E tenho lá no meu camarote as outras coisas.
— O sr. vai ficar com ele a bordo? Eu servi de pretexto?
O comandante não respondeu, colocando o vestido na cama do beliche, saiu, voltou com o embrulho, retirou-se.
Só, Celeste apanhou o vestido com medo, repulsa, e fascinada; conservado, sim, perfeito, cheirava a canforina, sacudiu-o; era de um corte simples, podia vesti-lo sim, estendeu-o ao longo do corpo. Podia vestir? Abriu o embrulho, todas as peças... Conhecedor, era, o comandante. O vestido talhado para o seu corpo.
— Em Breves, deixará o navio e o vestido.
Voltou-se, assustada. Então o homem já não batia? Entrava sem licença? Se a encontrasse?... Também não havia fechado a porta. E aquele adiamento? Nem lhe consultou, ditou: desembarcará em Breve. E se ela quisesse ficar em Curralinho, livrar-se dele quanto antes?
— Vou-me fantasiar, comandante. Licença.
O comandante saiu.
Muitas e muitas vezes, quer reconstituir a cena e sabe que não o consegue. Ou pensa corrigi-la, catando alguma particularidade que imaginou, não aconteceu, criado agora nesta barraca onde ronca o marido?
... Foi uma hora depois, sim, ela saiu do camarote no azul-marinho de Paris. Deu os primeiros passos na promenade e parou, não mais divertida. Ao pé, o comandante contemplava-a. Não viu nele qualquer assombro, apenas sério ou de um repentino ar de ausência que a irritou, já arrependida de se ter submetido àquele capricho. - Não se moveu. O comandante, ausente, aproximava-se. E a modo 149 que o navio, sempre navegando, havia despedido, a tripulação, e só iam ali a Celeste e o comandante. Numa expectativa que não sabia explicar, ou curiosa de saber aqueles enigmas no homem, Celeste permanecia na sombra. Com as luzes apagadas, seu rosto, muito branco, era a imagem da outra? O resto do corpo morria naquele vestido morto. Via, no olhar do comandante, a outra de Belém-Manaus, Manaus-Belém, uma época perdida, o acontecimento que não era dela, da outra, só da outra. Trocaram algumas palavras? Não se lembra mais ou não quer recordá-las. O navio navegava surdo, a proa acesa, as margens passando como se pelos troncos e galhos uma população estivesse espiando, e passavam estirões sem ninguém, águas que não pareciam.
O vestido tinha sido um repente para esquecer-se, mais por desfastio, ver se se acalmava. Mas o comandante veio, sempre ausente, ela desvencilhou-se das mãos dele, entrou no camarote, retirou-se do vestido, daquelas peças do Curralinho, viu-se na cama, aos soluços. Agora, sim, chorava. Chorava largo sem orgulho nem pudor, sem medo nem tristeza, entregue ao seu pranto que nem Muaná, nas tardes de março, entregue ás chuvas grandes. E o olhar do comandante, como se estivesse vendo a outra? Que pensava aquele homem no navio doido, que meios teve de fechá-la no camarote, urdir a teia do baile, das bananeiras. da fuga, cobrindo-a com um tal vestido? Não havia fechado a porta e estava exposta, naquela intimidade, a uma visita dele. E agora sem forças de se proteger, de trancar-se, esperava-o, rezando que não viesse. O navio navegava calado, sem tripulação, numa rota cega e sem fim.
— Por onde andamos, comandante? gritou da porta, num chitão espantado, mangas largas. compridonas. «A defunta era maior». Teria sido mesmo comprado f eito no Coronel Serra? Sabia que ali na sombra, agarrado ao balaustre, estava ele. de tocaia, com seus assôos. E dele ouviu o passo lento até a porta do camarote. Embaixo, surdo, o bater da máquina, aquele sonolento furor de fogo vapor ferragem revirando a velha hélice na água espessa que a selva vomitava. Quanto tempo na viagem? Que 150 distância percorrida? Aquela que ia do vestido do baile ao vestido da outra?
— Por onde andamos, comandante?
Nomes ouviu, confusamente. Falando tão baixo, o comandante confidenciava com o navio, consigo mesmo, urdindo aquela navegação para alguém ausente, a ausente que esvoaçava pela promenade... ilhas Rasas, abaixo da ilha do Farol do Camaleão, a boreste do banco de Samanajós...
— E Breves, comandante?
... monta os paus altos da costa da Tapera... Celeste mal escutava, sentindo naqueles nomes visões e acontecimentos que o comandante invocava para falar da outra, aquela que rejeitou o vestido, este agora no beliche, azul do azul das raras borboletas.
— Vamos entrar nos estreitos de Breves, minha filha. Em Breves, pegará navio de descida. Vamos entrar no Buiuçu.
Ela veio no seu chitão, de chinelas, sempre na impressão do navio deserto, abandonado pela tripulação. De repente o apito. Tinham que pagar lenha num trapiche.
Soava o sino da proa, agora o «Trombetas» apitava, volteando pelo canal estreito e verde, como se navegasse em roda de uma ilha e em cima da folhagem. Na proa, ao lado do comandante, Celeste sondava o ar escuro, o adiante, as voltas vinham, o rio fechava, ali se abria, desfolhava-se num estirão de vento e céu e lá ali tão longe, embora ao alcance da nossa voz, naquela esponja breiosa, devia ser uma luzinha, mais longe que uma estrela, a barraquinha, meu Deus, um taperi, apagou-se, apagou o vaga-lume humano. Brusco a volta do rio engarrafando no folharal das duas margens, o céu se apagava. Em Breves desembarcarei. E de Breves, para onde partirei? A seu lado, o comandante tranqüilo, restituído àquelas ilhas, faróis, pontas, furos, bancos, pedras, trapiches, aos desconformes de semelhante. noite. E com a sua carga a bordo e o vestido da borracha. 151 Ali, sem vestígio de ter parado em Curralinho, de ter gritado pelo Coronel Serra. Não dava conta da presença dela. O ausente agora toma a roda do leme ao marinheiro, quem sabe para guiar-se a si mesmo, acertar seu rumo, tão incerto que está? A arte é saber navegar em nós mesmos, no rio que somos nós. Sentia a respiração dele. E dela o rosto, feito um reflexo, parecia projetar-se na frente do navio sobre as águas. Fazia crer que o comandante volteava o navio não pelas curvas do furo mas para escapar daquele rosto ali sempre diante da proa.
— Quando for o Vira-Saia, me diga, pediu ela, baixo. Pode parar o navio?
— Parar?
Sim, lá na volta. Não está na lenda que contou? Não diz que as moças, lá, fazem parar o navio?
— Neste caso, é você que vai fazer parar, sua ordem, parar, sim, o navio. É seu comando, vai parar.
Celeste recolheu-se ao camarote. Ele havia contado a lenda, mesmo dito: vamos apanhar a volta do Vira-Saia. Vai ver. Decidi passar lá.
No beliche — como também agora no quarto, ao evocar a viagem — Celeste quer ligar a estória àquela última palavra do comandante: eu parar o navio? Que quis dizer com isso? O comandante tinha contado vagaroso, muito explicável: No Vira-Saia tem uma assombração. Raro o navio que entra nessa volta, pelo canal do Aturiá. Outros canais, que levam ao Amazonas mesmo, dão melhor passagem. Agora vamos pelo Vira-Saia. Deu meia-noite, embarcação passando pelo meio da volta, nem que vá a toda, de repente pára. Por mais que puxe, caldeira, motor, remo, a embarcação não vai adiante nem atrás. A água passando, a correnteza puxando, o navio quieto-quieto. No meio da volta e na meia-noite e daquele silêncio, eivém da beirada eivém chegando o chamado, a toada suplicante. São elas do fundo e à flor suplicando roupa. Os caboclos estoriavam: Certo aviado do Coronel Belo, no Aturiá, ia passando pela volta num remar maneiro ao gosto da maré e viu pela beirada aquele tanto haver de moça nua nadando. Via a cabeça duma, a outra num salto de bota, daquela o 152 peito e esta de cabelo comprido que parecia uma folhagem. Foi coisa que lhe arrancava a língua, a palavra: Mas são elas... O nome nem lhe veio. Queria remar, quem disse? A canoa, me diz, por que não andava? Rezar, cadê boca? São elas, me valei, Senhora do Perpétuo Socorro. Remo escorrendo da mão, ele via (era?), via, olhou, delírio de febre? O cardume das fluas. São metade peixe? Ou padecentes deste mundo, despejadas dum cemitério velho. comido pela maré? Visões fluas que reclamavam um traje? Noivas, o noivado perdido? Tamanhas pecadoras? Me valei, São Jorge, me tirai destas amarras, não bebi, aquela folha não fumei. Como sempre se fez em tamanha circunstância, o canoeiro virou a calça do avesso, assim vestiu para quebrar o encanto, e do embrulho onde estava o sal e o tabaco, tirou os dois e meio de uma chitinha tão prometida à mulher, medido no Coronel Belo, a troco de- semente de ucuúba e um sernambi, e para aquelas nuas faltosas de roupa, em pensamento falou: Tomem aí, talhem daí um vestido, ou cem, conforme vosso poder, é o que eu tenho, que a minha posse não dá pra mais, por isto não, se vistam. Marocas, coitada, com tanta percisão, que nua fique lá no jirau, até que eu apanhe umas outras sementes e tire outro sernambi, que esse pano era o que ia cobrirzinho ela. Só sei que em Iara a Marocas não vai-se virar, Deus me diz. Costurem aí, ou a coruja é a vossa costureira, a jaquiranabóia, as ciganas do aningal? Se sirvam da chitinha, é pano bem pobre, mas me deixem passar, vos peço.
— Minha filha, tenho que lhe desembarcar em Curralinho.
Celeste, lhe subiu o sangue. Este comandante é aquele homem? O cabelo branco em volta da cabeça, o ar cansado, o embaraço? De ontem para hoje, como envelheceu, ou já era velho e eu não vi?
— No Curralinho, no «Zé Antunes», embarca uma família...
«Não me fale em família, comandante», quis dizer, e suspeitou: está ele a par do que sucede debaixo das bananeiras? ele e quantos mais? Todos sabiam, sabiam, menos a família? E eu aqui, ingênua, aqui por excesso de inocência, de vergonha... ou porque me enjoei do Antonino Emiliano, fugi mais dele que das bananeiras? E esse, aí. o comandante, teria ido lá também? Pressentiu que eu saía, contaminada, na baba da cobra, me apanhou por isto. agora pasmou, recuando do seu ato?
— Olhe, mandei lhe preparar um camarote, é o oito, aqui perto. Pode mudar-se logo. Só trouxe mesmo esse vestido?
Semelhante pergunta! Então mandei a bagagem na frente, foi? Não foi obra de instante mas coisa de uma desmiolada sem preço, uma oferecida de trapiche e baile a bordo, agora mandava de volta? Tem que desembarcar a clandestina?
130 Correu para o oito, como se corresse nua arrastando o vestido e as fitas na mão, sentia um cheiro de alcatrão.
— Aqui tem o que precisa. Está quente. Venha pra fora.
Só, no beliche, as mãos no rosto, e a voz da porta, rouca e morna. Este vestido enorme, enxovalhado, me despe não me veste. Vestir outro quando, onde? Lá no Curralinho, me promete o comandante. Tenho que me desembaraçar deste chumbo, é ainda a mea família, pelo menos destas fitas. Não, não devo pensar que essa noite foi um simples fogo meu, um cego escrúpulo. Eu já trazia comigo a idéia de fugir, bastante foi beber a peçonha deixada na folha? Queria apenas o Antonino Emiliano pela única sensação do proibido?
Alfredo ouviu passos. Na cozinha, lamparina acesa, d. Cecé, de camisa, de onde saltavam os ombros até então nunca vistos e os braços e a transparência que saía dela, de sua mais secreta alvura. Receoso, Alfredo recua, e volta, a olhar. Ela foi ao quintal, os ombros branquejavam na folha da bananeira alumiada. Voltou, agora abrindo o colo, a transparência mais de perto, na luz da lamparina. Tinha o alvor das velhas bonecas sempre muito guardadas. No quarto, ficou rezando, os ombros na sombra, o cabelo desmanchou-se.
De repente, o Belerofonte com dor de dente, a correr pela casa e a mãe no fogão a fazer um chá de casca de cajueiro.
— Meu filhinho, dorme que passa. Amanhã vou mandar rezar no teu dente. Vamos, fazer um bochecho.
Quando veio a paz, Alfredo espiou no corredor, quase pegado porque a senhora vinha devagar, pelo escuro, envolta no cobertor da cama. Serenava no quintal, ao pé do jirau dos tajás, à espera. Estava longe, compreendeu Alfredo. Esta noite, pensou, posso dormir sem formiga na rede. Dá demais formiga nesta barraca. Seguiu o conselho da d. Romana, meia o punho da rede com azeite, de 131 andiro|ba contra as formigas. D. Cecé vai virar tajá no sereno? Longe está mas aonde?
O comandante enfiou a cabeça pela porta:
— Mas não está quente? Quer uma rede aqui fora?
— Por onde estamos, comandante?
Perguntou por perguntar, para esconder confusão, desassossego, estabelecer com ele relações não íntimas nem tão cerimoniosas, como se de repente aceitasse a simples condição de passageira. Ou noutro sentido a pergunta?
— Por onde estamos? Com o furo da Conceição por bombordo. A proa entre as pontas das ilhas do Caim.
No primeiro camarote, eu era a fugitiva, aqui neste a devolvida. Como se fosse possível devolver a mesma que embarcou.
— Disse Caim? As ilhas do Caim?
O comandante tinha desaparecido. Que se passa com ele que entra e sai, anda na promenade, desaparece, tossindo, fumando grosso? A barba, não fez, e isso é que o envelhece mais. Parece mesmo não saber o que fazer comigo. Onde o cavalheiro do baile, quem este que comanda um navio e não comanda uma mulher? Eivem de novo.
— Mas saia um pouco, Mando lhe armar uma rede na popa.
— Comandante, o feito feito está. De nada se culpe que a culpa eu quero para mim.
— Minha filha, o Zé Antunes toca no Curralinho. Olhe os seus dezoito anos. Se não quer ir logo de volta pra Muaná, fique ao menos em Belém em casa dos parentes. Ou vai para Cametá, casa de sua avó? A explicação de tudo será fácil, sem dano algum, creia. Quer a rede?
Celeste sem responder. Mandar de volta. Sem dano algum! Lá vaizinho de volta a moça fugida, a acesa por viajar, inteira-inteira como saiu. A minha idade. Idade é a que quero ter, é desta hora e me dá de menos dois anos. Tenho vinte, seu comandante. Tivesse quinze. Idade quem faz não é o tempo. Oh a fácil explicação dele. Como se desculpa! Quis sair, mas neste andrajo, do baile? Mais só, sentiu-se, mais desconhecida entre desconhecidos. Fechada 132 entre estirões de mato e água. Um cheiro que não sabia se era lodo, raiz, folhagem, bichos, alcatrão, os homens suando na lavagem do convés. Bocas da selva engolindo este gaiola arquejante, a Celeste esta. Estranha entre a tripulação indiferente, que por certo ria dela, no vapor que volteava, arrastando-se entre furos e ilhas num surdo navegar. Onde aquele navio voando em águas da noite puxado pelos serafins do escaler? Ouvia agora os baldes no convés, um apito, o resfolegar do «Trombetas», e dentro dela o desabamento de tudo que prezou, julgou sagrado. Mas dessas ruínas saltava, uma avidez pelo que lhe podia acontecer daquela hora em diante. Fui eu a escolhida para culpada? Alguém paga, pago eu. Fui sorteada para a punição. Não era do comandante o braço que me apanhou. de quem? Voltar a bordo era a sentença. E depois, e agora só, culpada, punida, voltar sem dano no «Zé Antunes» ... Aqui está de volta a doida que meteu na cabeça de viajar, trancou-se a bordo do «Trombetas», só mais tarde foi que o comandante soube, deu com ela: mas, mea filha!? Mas como? A fácil explicação. O Muaná saboreando. O pai, a mãe, as irmãs, caras de retrato em parede, na porta a recebe-la. «Minha filha, pode embarcar no Curralinho, em companhia de uma família... Pois da família não fugia? E dela lhe pesa ainda este fantasma de vestido. este suor, esta palavra do comandante. Meu Deus, quente está, sim. Mas sair, despida, de camisa? Neste em que estou eu, não, nunca mais. Eivém o meu carcereiro. O rosto na porta, abrir não abre. Lá se vão os passos dele, um apito, uma volta, nem um vento, nem um estremecer lá do mato, aqui dentro queima. Disse ilhas do Caim? A impaciência dele, o olhar de apreensão e incerteza, mais barbado, sem sossego em todo o navio, dizendo «minha filha». Um instante me viu como no baile, e senti nele tal e qual aquela impressão que causei, vi no padre Daniel em Muaná. Vejo agora cair-lhe o braço, não mais aquele da noite. Ah, me sinto só, me sinto livre, escolho o meu rumo, um passarinho solto, já então... Solta-solta, sim, podia escolher. É a minha vez, eu salto daqui, vou me embora no Amazonas, solta e por isso mesmo retida no beliche, sufocada por tão livre, aqui escrava porque tudo posso consentir e querer.
133 Abriu um pouco a porta e viu, de costas, o comandante na amurada, o fumo grosso, o dólmã desbotado, descosido no braço, as pernas sem sossego. Vê-lo assim, montando guarda defronte do camarote, dava uma segurança, ao menos protegida sentia-se. E eu que esperava ter terror, dizer-lhe um «não» desesperado quando o visse entrando, um «não» sequioso de dizer «sim», que fosse o adeus Cecé do Muaná, não mais Coimbra nem Oliveira. Celeste só. E aquele abraço que o puxou das bananeiras, era o mesmo que às bananeiras a devolvia? Eu que me atirei a ele, meu foi o desatino, meu só, dele nenhum? O homem de costas, o dólmã descosido no braço e este apoia-se no balaustre, aquele silencioso sobre as ilhas do Caim que fervem no sol. Num caldeirão viajamos? Esperava-o a qualquer instante e veio aquele pai.
Sem se atrever a sair, enxugando o suor, estirou-se no beliche, molhado o vestido nas costas, peito queimado a modo de uma febre. Lá fora restava ele. a proa entre as ilhas do Caim. Bombordo. Bombordo. E eu aqui, estou a boreste? A bombordo? Aonde minha proa? E o suspiro e meio e o cavalheiro de ontem à noite, a boca na orelha da dama, solando palavras que agora não sabia quais e o braço na cintura dela bem fundo e dele o olhar semelhante ao do padre Daniel?
Por falar no padre, umas passagens em Muaná, na ausência de Antonino Emiliano, valia agora tirar a limpo, sem doer a consciência. Sim, não se fazia de muito rogada a tais e quais olhares dum, doutro rapaz sempre da cidade que lá aparecia, casual, mas conforme, não um qualquer. Simples passatempos, só, pois não era ainda pedida para se proibir disso, quanto mais que a sua família açulava, tecendo para a Celeste mesma riscar, com a sua mão, o Antonino Emiliano de uma vez. Viro e reviro, não encontro nada de mal que tivesse praticado. Mas a um rapaz, nem todos, que custava um sorriso? Tirava pedaço dela puxar uma conversação? Demais ser acompanhada no largo, debaixo da mangueira bem na luz do dia, no trapiche, dava que falar? Maldar, fazer o querer da família, provocar o suite de Antonino Emiliano, disso não cuidava. Que-que me comprometia? Dançava, sem tanto efetivo, tirada 134 sempre, podia dizer não ao cavalheiro? Também servia para fingir diante da família que nem um pouco de Antonino se lembrava e ao mesmo tempo para que os rapazes fossem falando bem de Muaná, da distinção das famílias, o natural desembaraço das moças muanenses, moças do interior, sim, nem por isso ignorantes da sociedade, não poucas instruídas em Belém. Só mesmo pessoa muito abaixo havia de chamar isso de péssimo proceder, abusar da ausência de Antonino, tirar bom proveito das facilidades que a família dava a esse faz-que-namora-não-namora mas vá ver que tira o seu fiapo. Eu tirei? Troquei olhares, gostava de ser tirada pelo par que eu de longe escolhia, uma e outra vez e correspondia assim de leve a um aperto dançava nem para o lado do escândalo, nem do lado da inocência. Porém, hoje, cismo. Fiz falsidade? Celeste, puxa pelo juízo... Mas xõ, cisma besta. Coisa nenhuma! Bem... Podia ser uma influencia repentina, um avoamento, aquele momentinho só. ofendia? Mas por um fogo aceso de cálculo? Namorisco? Faltando proposital com a palavra? Isto que não. Vamos que eu praticasse as coisas que. os de fora enxergavam e eu de mim não via, sem o leme de meu juízo? Sabia o que dentro de mim se passava? Coisa que eu fazia, embora nada demais, já não conspirava contra o meu pensar? Os demoninhos de dentro não burlavam as minhas sentinelas? Que é que me mandava olhar, se era melhor não olhar? Segurança do meu sentimento? Certeza de que eu mal não fazia? Muitas passagens houve, agora passo a limpo, repasso o caderno. Tudo bem na vista de todos, nunca escondido, sem um cheiro de maldade, a mil distância da segunda intenção. Mas, por exemplo, aquele ao despedir-se dela no começo do trapiche, hora do navio largar, o sino chamando para a ladainha na igreja? O rapaz, tão do desembaraçado, solou: Menina, menina, menina! Não se espante se uma noite eu vier lhe buscar no meu barquinho voador, ah, mas não se espante. Eu lhe carrego comigo. Olhe que eu lhe levo... Que eu lhe levo, eu lhe levo. É que a menina está que é uma beleza, ah está, está! E estalou os dedos e estalou a língua e olhou o céu, numa voz tão de agradar entoada, alegre a mais não ser, nunca Antonino Emiliano lhe tinha 135 falado assim, assim lhe pegado a mão, se bem que tanto se atrevesse em coisas muito mais que ela sempre ia barrando. Aquele, não, ali, ainda no claro do cair da noite, curvou-se, apanhou roçou nos lábios a mão que ela mais que depressa puxou e logo no rosto empinado do rapaz o sorriso de quem acha sal em tudo, divertido, sabia encher um balão. Caçoava? Debicava? Cínico? Parecer não parecia. Tenho que não. Alegre, sabia que sim. Era um moço judeu, por apelido Samuca, dava de dizer graça nos bailes e almoços comemorativos, no terraço do Grande Hotel parecendo vendedor de máquina, levado em Belém às festas de caridade para um número de humorismo no palco. Mentia, ou era por um despeito, quem viesse falando que o Samuca não fazia rir. Moço da sociedade, se dava que se dava com gente de beira de praia, chegava de imitar até a fala do caboclo, não por caçoagem mas por um carinho, uma intimidade a mais com eles. Bebia com abaeteuara no meio das frasqueiras de cachaça; na proa das vigilengas chegando estas com o peixe do Salgado, comia piramutaba em prato de folha e com a mão, estalando a língua no caldo do peixe; prosava de igual para igual com as velhas mulatas de tabuleiro atrás do Mercado de Ferro discutindo preço e vantagens das ervas, cascas e raízes de banho, remédio e puçanga. Um e outro instante passava uma morena de São Brás ou da Pedreira, cintura estalando no vestido e ele ia, roçava o nariz no cangote da faceira e Ah! suspirava e fazia que desmaiava já no braço do canoeiro, seu conhecido, que lhe acendia o cigarro. Um fino rapaz. Beijou-lhe a mão, o navio apitando, corre que tiram a prancha, ao primeiro toque da ladainha. Mas isso não lhe quebrava o sentimento pelo Antonino Emiliano, tão acomodado nela, atiçado pela perseguição das famílias, lacrado com uma jura entre os dois de nunca vergar o pescoço, abrisse a seus pés o inferno. Ou já então, embora de boa fé. traía? Lá pelo fundo o sentimento azedava, conservado apenas pela própria teimosia? Pressentimento não teve. Tão natural já era contrariar pais, chuva, lama, escuro, língua alheia, sua preguiça, para encontrar-se com ele nos atalhos e becos do mato, correndo os riscos que sopram, em tais ocasiões, da parte do homem! Tão habituada que, suspensa a lei, o sentimento adeus? Bastou o 136 choque das bananeiras, para disparar até este beliche, a estas ilhas do Caim, com o carcereiro aqui defronte?
Repassava o caderno, o beliche fumegante, das águas este mormaço: o navio escaldava.
E quando em dezembro, Antonino, retido em Belém, a tirar um dente inflamado, eis que chega para fazer a festa, por doença do padre Pinheiro, um colega deste por nome Daniel Jesuflor Lira? Primeiro foi achando graça de semelhante nome, Jesuflor, a rir, a chamar: é o padre Jesu, uai! Mas, confessava, tirou uma linha daquele pedaço de homem dentro do padre. Como principiou, sabia bem? Viu-se ao pé do reverendo, este novo, rosado, a rigor no seu ofício, a apaixonada voz enchendo a igreja, o órgão, os cânticos, o latim bem soante, o temor e respeito de Deus em boa garganta e dom. Deu com o padre olhando, um perdido olhar em cima dela, meio adivinhando. Apanhava ela um pouco descuidada, um pouco sem defesa. Mas foi firmar meus olhos, de mim tirou os seus. Do padre não se podia dizer: esse, hein? esse é mas não é triste. Um olhar de muita responsabilidade em que se via surpresa, medo, um estremecimento... E quanto a ela, pela primeira vez, ia sentindo ter causado uma impressão séria num homem, que não sentiu nos outros nunca viu no Antonino Emiliano, este seu conhecido desde os cueiros, quando entre os dois nas brincadeiras não se sabia qual o macho qual a fêmea. Noutro dia, outro olhar do padre Daniel ao borrifar a benção ou a meter o sol na boca da pagoa, em cima da pia, a pagoa berrando, Celeste, a madrinha. Ele a sério, batizava à sustância. Padre Pinheiro, ao contrário, batizava um pouco na troça, a três por dois, anda, padrinho, depressa com esse Adão, urgente para pegar a merenda das dez nas Albuquerque. Esse outro olhar do padre Daniel, menos insistente que admirado, não cobiçava nem seduzia, sem prática de olhar mulher mas com um saber olhar de nascença, que lhe digo, é raro. E foi que lhe deu aquele seu repente de se chegar pertinho do padre, num jogo de curiosa, quis tirar uma dúvida, desatar um mistério, sorriu secreto, olhou frente com frente, um olhar de quem não quer dizer dizendo e logo arisco foge, corre os bancos e santos da igreja, vem e vai, disfarça, de 137 repente pouco ou nenhum caso faz, nada mais transparecia, boa noite, reverendo. Donde, como aprendi a arte?
— Gostou do Muaná?
A pergunta dela noutro dia, num batizado, em tom confidente, era de quem queria tirar uma confissão, bulir com o homem ali debaixo do padre. O padre, de rosado, então que ficou mais. Porém não se precipitou, um fino falar, embora muito intrigado, esquivo, logo se despediu. Lá por cima das cabeças dos fiéis, notou Celeste, de longe vinha dele um olhar furtivo, um quase desesperado olhar, sentiu ela. Ou não? Talvez se enganasse, agora cisma, retocando o quadro, (ah nem um leque neste beliche, tudo fora tão parado que até parece que o próprio navio nem anda?)
E lá no púlpito o pregador, que voz de homem! Dos mistérios da Santíssima Trindade que falava, descia uma espécie de conversação com ela não em palavras mas no tom da voz, nos gestos, no rosto que as velas ao redor aureolavam. Tanto agradou-se ela do olhar furtivo, daquela voz sobre os fiéis não lhe falando de Deus mas do amor, que, ao pé do leilão, no arraial, Celeste ao seu lado sentou, com muito respeito, um assunto puxou: Por que não uma Pia União de Filhas de Maria em Muaná? E arranja afilhado, leva na pia, ornamenta o altar, toda noite na novena, de véu no confessionário, noutro dia comungando, borda um pano de altar, ajuda a arrumar a sacristia, deixa uma rosa no púlpito, um raminho no livro da missa, e o fio Ezequiel: mas, gente!? Se admirando sem uma suspeita, um pigarro, na maior das inocências: Assim, sim, d. Celeste! No púlpito, o orador citava palavras de São Paulo. Celeste entendia como declaração de amor. Que fervor esse dum dia para outro? lhe indagava a mãe, quem sabe já maldando. Ela respondeu, entre atrevida e graciosa: me pego com Deus para amansar a perseguição da família. A mãe (aquela, hein?), fez que não entendeu. A mãe não podia escapar o embaraço do padre ao pé da Cecé. O fundo reboliço dentro do homem, Cecé via no rosto do padre. No largo, depois da novena, escondia-se, a espiar o padre sair da igreja. Ele corria ansioso os olhos pelo arraial, «E Celeste?» seu olhos indagavam. Então ela aparecia, o padre fingia:
138 — Oh, estava aí?
E viu nas novenas que o padre falava de Nossa Senhora como se falasse dela. Celeste Coimbra de Oliveira. Foram uns dias relâmpagos, até que Celeste ao confessionário, ajoelhada, ouviu dele, quase surda, a confissão. Escutou cabeça baixa, véu no rosto, chovia muito, pouca gente na igreja, morcego voando, umas sete da noite, queimava incenso. Ele se confessava. Celeste compreendesse o que significava abandonar a carreira, Deus o queria casado com ela, sim. Sabia francês, outras matérias, viveria de ensinar em Belém ou S. Luiz do Maranhão. O que ali dizia era tão grave como se estivesse perante Deus. Doía-lhe era fazer daquele confessionário... Não queria de modo algum profanar ou que o sacerdote saísse dele diminuído. Celeste quis arrancar o véu, desfolhar o rosto ardendo diante dele, lhe doeu um joelho no chão, tossia.
— Se me ordenei foi porque senti a vocação. Eu me sentia seguro, tranqüilo, certo de que... Mas está sobre mim outro poder.
Celeste roçou os joelhos, um ah pela garganta, quis fugir, quis rir e não riu, ficou o tempo de escutar tudo. Um poder sobre ...... Ergueu-se, se benzeu, dizendo-se que em nada-nada se abalava o seu sentimento pelo Antonino Emiliano, mas exaltada, subindo naquele se-declarar do padre Daniel, cochichado tão a sério, tão profundo, ao pé do confessionário. As mãos do padre, que desassossego, e o seu olhar de atormentado quando pedia a resposta, a contrição dele e ela sem fala, ralando o joelho na pedra? Noutro dia na missa, Celeste, no coro, o viu erguer o Cálice. Dentro do Cálice, se sentiu um momento, sim, do que se assustou, teve de rezar depressa, cantou, estava naquele instante não sabia como, só depois no navio e agora nesta barraca de Inocentes sabe o que foi: feliz. Então não sabia o que era bem a idéia, o sentir-se amada, amada contra o proibido selado no altar, diverso dos riscos profanos que atravessava com o Antonino, este meio incréu. E foi que recebeu dele a carta: Já estava violando o seu dever, dizia. Já não podia rezar nem falar aos fiéis com aquela naturalidade e verdade com que exercia a missão. Estava certo de que não era a fragilidade de sua vocação que o levava àquele sentimento. Quando mais amoroso dela mais 139 pregado estava no seu ofício. Porém temia falar do púlpito só pensando nela, por isso lhe escrevia decidindo, a carta era a prova, lhe mandasse dizer sim e rezaria em Muaná a sua missa derradeira. Celeste, sem uma palavra, lhe devolveu a carta. E ria, depois, ria de que? Caçoava? De se sentir num andor, de poder dizer não, saber o quanto podia sobre um homem para arrancá-lo daquele altar, púlpito, pia, paramentos, latim, coroa? Ou por ser feliz, nada mais? E consentia para saber até onde ia ele, até o limite além do qual o padre podia trair-se publicamente, quebrar o sigilo, destravar lá de dentro o seu apetite do mundo. Ou mesmo paixão a tal ponto? E agora, padre Daniel, desate, e agora, para me tirar do seu labirinto? Se agarre no Santíssimo, passe na prova! Pois vou ao vosso socorro: o instante em que lhe ditei:
— Me escute, padre Daniel, com Deus Nosso Senhor fique, que é desse Antonino Emiliano daqui do Muaná, que eu gosto, sim. Uma sorte me diz que é, reverendo.
Disse «reverendo» quase por um gracejo, uma falta de respeito. E as coisas que falou, falou por um desafio, para tirar o padre a limpo? Para lhe dar um tal vexame, uma vergonha, arrancar dele um desvario de me querer me cobiçar agora com um cru apetite, um fanatismo de santo e ao mesmo tempo de um possesso, desencabeçado pelo meu não, pela maçã que mostrei não dei? Estive certa no que falei? Ou não cortei pela raiz? Me neguei ou esperava que o padre, na ocasião, arrancasse de cima dele aquela batina para poder arrancar-me o vestido? Deus via? No âmago de tudo aquilo, já estava a Celeste de agora, esta que saiu das bananeiras?
Decerto, sim, parecia, — quem sabia? — que ao fugir do quintal, fugia de si mesma, sentindo-se em lugar da outra no que viu, ela mesma e não a outra, ali debaixo das bananeiras; em vez da peçonha, matando a sede, fazendo sair do peito, das partes, do sangue, da garganta, o dilacerado ronco de porco, aquele grunhir de toda a família que se virava ali num lobisomem. Sabia? Certo foi ter saído de lá com o peso de todo o casarão das Oliveiras nas costas, o casarão desabando e do meio dos destroços aquelas bananeiras subindo de novo e na mais alta folha a peçonha guardada que ela, Celeste, no dente recolheu e agora no 140 «Trombeta» à espera do seu caçador para que este o braço estenda, a boca ou que seja, e assim com o seu dente desvairá-lo em cima desta caldeira.
Mas o padre? Ah, Celeste, tua cabeça ainda vira, vira ainda... O coitadinho do padre? Sim. Quando é noutra noite, finda a novena, Celeste ao trapiche com as amigas, espalhando no ar do rio o ar da igreja, a noite tão bem agasalhada naquela água e esta bem nos acalantos. E não foi que ao pé dela estava a pura visão, o padre em pessoa? Celeste se estremeceu, disfarçou:
— Por aqui, padre Daniel, olhar o rio?
As amigas — sem maldade? — por simples brincadeira? — apressaram o passo na frente, Celeste e o padre bem atrás.
— Tomásia, Anália, Elza, meninas, que pressa é essa. Mas esperem! Vão cair no rio? Escutam aqui o que o padre está nos pedindo...
— A ti só que eu peço, Celeste. Mas se quiseres, que elas venham escutar. Espera, eu chamo...
— Não, não, padre Daniel, Deus nos livre, não.
E lhe deu a covardia e falou num tom que não era mais dela:
— Mas me escute, padre Daniel, é o que já tratamos. Eu carregar com o peso de lhe tirar da igreja? Eu quem sou eu? (ó Elza, Anália, Elza!). O sr. é muito moço, vai ser um bispo que eu sei...
Quis dizer: o sr. é mais que o Antonino Emiliano, mais bonito, mais instruído, mais inteligente...
Mas só fez foi chamar alto:
— Venham, seus diabos!
Pôs a mão na boca pelo que chamou, disse depressa:
— ... minha sorte é casar com aquele rapaz, é. Até que pode ser que seja o sr. que nos case, quem sabe? Deus que sabe, não? Oh mas aquelas meninas parece até que se atiraram no rio... Reze por mim e agradeça à Mãe Santíssima pelo passo que não vai dar, padre,
O padre não se afastou, sumiu, sumiu-se feito um espírito. Certo é que ela, no mesmo que falava, lhe quis dar 141 bem na boca o beijo que nunca deu nem nunca mais soube dar num homem. Pode hoje decifrar? O que disse foi direito?
E lá subia ele no púlpito, última novena. No engasgado sermão do padre Daniel falava um homem ferido. Cecé fugiu, se meteu em casa, e rir era o que fazia, um rir chorando, que bom era, e lá por dentro, sim, uma coisa, fino e fundo, bem que lhe doía, e muito. Três anos atrás. Se agora o padre a encontra em Belém, se de tudo souber, ou já sabe. Caso como este voa. Mas me importa? Foi que naqueles dias de dezembro, feliz, feliz, ela era. Agradecia isto ao padre? Ah, tão ferido como homem. Mas que marido sairia dali? Que faria ele de mim, e eu dele? Cortei fundo aquela criatura?
A um berro pelos fundos do quintal, d. Celeste salta de bordo, desceu do padre, acudiu a Arlinda que se debatia nas garras do Belero. Mandou que a menina acendesse o fogão, espiou Alfredo debruçado nos cadernos. Ele lhe ouviu um suspiro, o passo incerto no quarto, novamente a abrir e a fechar a mala, o resmungo que parecia contra o filho, a suspeita de cupim rondando a viagem ali guardada. Tornou a abrir a mala, deixa cair a tampa lembrando a Alfredo aquela dum caixão de defunto visto na casa do velho Abade que fechou tão fundo. Já lá estava d. Celeste na cozinha de onde saía, por toda a casa, a fumaceira da lenha molhada, lenha verde. Arlinda tossia. Belerofonte gritava que morria sufocado.
Lá pela meia-noite voltou d. Celeste à mala velha, agora só em pensamento, deitada que ficou na rede. Na cama roncava o marido.
Proa em cima do Curralinho. Farol no trapiche. O liso da água no largão esticado da baía, nem um ar de vento. Curralinho. Apitou, soa o telegrafo, expiram os bofes do «Trombetas», cheiro de chegada.
142 — Prancha fora!
Aqui será Celeste baldeada pro «Zé Antunes». E este, que sinal deu? Passou? Atrasou. Afundou?
— O «Zé Antunes, comandante?
— Passou, O trapicheiro sabe de outro chega-não-chega, o «Tuxaua». Mas feche a porta, olhe a invasão dos carapanãs.
Dos carapanãs ou dele, homem, não se garante ao passar porta a dentro? Só os olhos na meia porta. E esta se tranca, o peso enorme deste vestido me puxando pro chão, me afundando feito a força dessa água toda aí debaixo deste navio. O navio muda de posição, a maré puxa. Os porcos que puxam. As fitas são pernas, e pelos de uma aranha eriçada, O comandante, agora à noite, é uma sombra de mescla, pisando pesado, assoa-se grosso, vem, revém aqui defronte, a voz cada vez mais de pai, mas aquele seu assôo não.
— Vou buscar as encomendas. Quer Ir em terra? Com essa chuva de carapanã não lhe aconselho.
Tão ligeiro pra me devolver, quanto foi ao me pegar na borda... «Zé Antunes» ou «Tuxaua», lá vai de volta a fujona, a mal fugida, entrando em casa de rabo murcho. Põe na cabeça, filha de minha mãe, que és uma moça Oliveira que não foge nem se mancha em público, basta que tenha bananal no quintal, o chiqueiro da noite. Desinteirada ou como nasceu, Oliveira sou, sempre família. Clemência, santo Deus, que boas vindas-estas, que zinideira de carapanã entupindo o navio! Ah! Apaga a luz, fecha bem a vigia, mosquito de escurecer. O ódio e sede e clamor e fúria das quantidades deles em cima do navio, na pele, no sangue da tripulação, sangue fresco, sangue, que esse daí do que resta do povo do Curralinho é um sobejo ralo. A tripulação fere a luta, bate pé, se dá palmada no rosto costas, por dentro da roupa, sopra, engole mosquito, cospe e injuria, novas quantidades, de desesperar, tomaram o navio. Aqui é a fábrica? Aqui é a mãe da febre? Ao peso de uma escuridão morna; atrás do capinzal e folharais. as velhas casas se agacham e se escoram na solidão, no tão antigo, adeus borracha. Foi abrir um pouquinho a vigia 143 e um jorro de carapanã no rosto, Aqui parece que pode-se dar uma profecia.
Mal atrasou, saltou o comandante atrás de uma loja, que ele disse existir ali, a do coronel Serra. Ia atrás dum vestido feito, que sabia ali, de moda muito antiga, guardado numa caixa, encomenda de quem? Quem essa, ou esse que, pai, noivo, padrinho, mandou buscar e quando chega é a circunstância da borracha ter baixado, o crédito não deu mais, a seringa pelo preço inesperado não comprou nem os mantimentos do trivial, o vestido mofou anos, agora servindo a uma flagelada, esta do Muaná. O comandante vai catar uns dois mais vestidos, fosse de que pano, ou feitio. Três vestidos, corpinho, anágua, combinação pele de ovo, calça, chinela, um pó de arroz, o navio espera. Tuxaua» não passa nesta maré! Corta, prova, cose, num enfiar da agulha que chegue a madrugada, tem senhoras neste interior de mão muito ligeira, infalíveis nos seus ajustes. Celeste, por seu enxoval, que fique nesse calor escuro palustre, neste aguaceiro de mosquito, em que casa? A. espera do Tuxaua», provando os panos. Como será o vestido novo antigo conservado na caixa, sempre aguardando a moça, esta, sabe-se lá, num escondido de igarapé, confim dum seringal morto? Que feito da moça? Em que estado se acha a encomenda? Crepe georgete? Crepom-seda? Gaze, cambraia, linho, gorgorão, cetim, de Paris, com certeza? Onde a moça que encomendou? De boa memória, o comandante achou que tinha o meti tamanho, os mesmos ombros, a cintura... Aqui não parecia tão pai, a esfregar as mãos como se alisasse a que pegou no baile a bordo. Apitou um, lá fora. «Tuxaua»? Por Deus que não desembarco. Fugi, não volto. Caranguejo, dá feita que sai do buraco não acerta mais entrar. Não é só medo, é uma vergonha, é uma ira.
Não era o «Tuxaua». E assim procedia o comandante na providencia da roupa, um leque também. Mas ah, se os carapanãs não arrombarem esta porta, posso esperá-lo, viva. Cubram de terra esse Curralinho até sete palmos. que isso aí entregou a alma ao diabo, já faz muito tempo. Nossa Senhora, como zoa macabro este carnaval!
144 Chiam as entranhas do «Trombetas». O foguista deste vapor não é o próprio, sou eu, aqui nesta fornalha. Maquinista, pessoal do fogo, soltem o vapor, abram a caldeira, esguichem água fervendo em cima desta invasão. Os diabos nascem no ar, da escuridão morna, ventania deles. O comandante tarda a desencavar o vestido de pura fantasia, arquivado na velha prateleira. Tanto que falou dele o comandante, ao chegarmos no Curralinho! Desapareceu pelo trapiche de esteio abalado pela maré, tabuame solto e podre, o marinheiro na frente, farol na mão, os dois pelo capinzal, atolaram-se no escuro. Em busca da loja do Coronel Serra. Bateu. O marinheiro de farol erguido se abanando, acossado pelos carapanãs. Bateu de novo. De boné se abanando, o comandante chamou: «Coronel Serra, ó Coronel Serra!» Ninguém sabe de um navio no trapiche? Parece que ninguém acordou? Que importa a Curralinho um navio que passa ou atraca, por mais que apite ou desembarque o comandante atrás de vestuário para a moça que a bordo se refugiou com roupa de baile? Bateu, bateu. Uma tosse lá de dentro, alumiou-se o balcão.
— Coronel Serra, é o comandante Assunção. Estou com o «Trombetas» no porto.
— Boa noite, comandante. Que milagre esse? Fez escala?
— É, Coronel, Forçada. Prancheei para lhe tomar aquele vestido.
E sobre o espanto do Coronel Serra o comandante corre os olhos pelas prateleiras quase vazias, o monte de redes, a peça de morim se acabando, a vara do metro, a balança enferrujada, umas botijas, o São Miguel no quadro à espera de freguês, uns bostoques na poeira, o bolor do comércio morto. Amarelo da febre e da ruína, acuado no balcão, o Coronel Serra. Aonde anda a encomenda de Paris? Aquele que atravessou o Atlântico, outrora novo, nunca velho, que veio feito?
Celeste, nas imaginações, olha, acompanha, faz o comandante na loja. E de repente: Esse tal vestido, esse-um alheio eu vestir? Era, se fosse. Jamais. Jamais de me cobrir com os desejos e sonhos de uma senhora ou moça, 145 que não se regalou do que mandou encomendar ou lhe prometeram e nem viu. A vida inteira com o juízo no vestido. Talvez hoje defunta. Visto eu e vem, chega a alma da dona e se mete no meu corpo? Ou da feita que eu vestir vira em pó? Variou do miolo aquele comandante? Que lhe deu de me presentear com uma vestimenta que chegou com a fatal notícia, trouxe a calamidade? E eu que não disse: «Não, comandante. Eras desse vestido»? Um traje de Paris chegando de cambulhada com os preços da borracha caindo? É de crepe, mortalha dos seringais? Quem sabe para uma alegre de bordo, Belém-Manaus, Manaus-Belém, e antes de encostar neste porto lhe deu a terça, encostou de vez naquele?
Estava escrito que ia ser seu, lhe disse o comandante. Talhado na sua medida. Basta soprar o mofo, os longos dias mortos. Pelo menos usar nas últimas horas de bordo, faz de conta que se fantasiou, que vamos dançar a derradeira valsa. Ela ia vestir aquele tempo, cobrir-se do outrora, o vestido a esperou anos.
Decerto um modo dele em disfarçar o arrependimento. emendar a aventura, fazer de mim a sua miragem. Ou porque estou nesta lonjura, me faz, de índia urubu, me amansa com miçanga? Adoça uma que está pelos extremos? Me traja assim para esse rio aí de cima, o Amazonas, com quem me caso ou me amigo, porque daquele homem só oiço o grosso assoar e sempre a voz de pai e nesta fotografia as três crianças me apontam o dedo.
Ou quer dizer que vai levá-la assim trajada para a cabeceira dum ermo onde se escondeu o tempo antigo, onde hoje não tem, só ontem?
É a encomenda da Europa, que o comandante Assunção quer levar, responde Coronel Serra à mulher que enfiou pela porta dos fundos a cabeça indagadora e atrás dela uns saltados olhos de menina louca por uma novidade. Amanhã, ou agora mesmo, Curralinho vai saber que o comandante Assunção, do «Trombetas», entrou pela casa do Coronel Serra, num jeito mal-assombrado, doido de carapanã e na obsessão dum vestido, aquele, que veio com a notícia». Nos quartos, debaixo dos mosquiteiros, pela 146 cozinha (Depressa um café pro comandante), os de casa pulam da toca cochichando: o comandante com uma no «Trombetas», mandou arriar o traje. Nem o Coronel Serra sabe mais quem encomendou? Sempre fez um meio mistério. Preferiu calar, avaro da memória. Receia entregar a encomenda ao comandante Assunção? A que preço? Mas a caixa ninguém abriu, ninguém sabe a cor da encomenda, como chegou ficou, as mulheres da casa tiveram medo, mesmo o Coronel Serra proibiu duro de cara feia e foi na ocasião do azar que deu.
Celeste tem um breve regozijo: no mais, o comandante obriga-se a servir-me. Para que eu queira voltar, me adula, me rende obediência. Assim passa o navio ao meu comando. Muda a rota, altera a escala, por mim. Fretei este navio de graça, meu para a minha viagem, meu deleite e danação.
Mas a idéia desse vestido, não é que foi o comandante mesmo que mandou buscar a preciosidade, e quando chega, vê a dona nos braços do que chegou primeiro, nos píncaros, em Manaus? E aqui o seu Assunção, de vestido na mão. «Não fale nada, Coronel Serra, me guarde isso até um dia». Agora quer vingar-se de sua sorte na minha, me apanhou, me trancou, me soltou na boca do mundo, me trazendo na mão o vestido enjeitado. Quer me vestir e dizer: olhem, ela se ofereceu, rejeitei. E dei um moda antiga para lhe cobrir a vergonha.
Que conta deu Celeste de seu orgulho, o pavio que se abria dentro dela, cadê? Acenderam-lhe a mecha, disparou, foi pegar a peçonha, pegou que foi uma fúria. A esse comandante, tão fácil era dizer: olhe, volte, menina. É a sua família, Isso é sua idade. E lá anda o meu tutor atrás do que possa me vestir, me lacrar, me por um espartilho de ferro, fechar-me, tornando-me mais inteira do que vim. Agora não é a mão que estende e me puxa, é o seu juízo que me lança do navio para voltar ao meu sobrado. Cadê as plumagens, Celeste, as asas, Celeste, tuas alturas? É o chão que, a seus pés, se abre? O galante de bordo foi um espírito que se atuou nesse papai de agora. Quando é depois, o médium acorda, vê: tamanha donzela a bordo? É aquele espanto de inocente. Vivou carcereiro. Lá está 147 o Coronel Serra a fazer subir o tapuinho de costelas de fora para desencantar da prateleira o vestido.
Mas tudo isso, ao pé da vila de breu, mosquito e febre, põe também em Celeste um ardor de quem dá de face com os seus dias futuros, qual sejam, sabia lá, mas dela, a concha que vai abrir-se na força do rio acima ou rio abaixo. mesmo de volta, um viver outro, que ela queria, pedia. Vê o vestido na mão do comandante, o vestido vem no escuro, com um poder sobre a treva, sobre os mosquitos, o navio espera o vestido. Em breve o capinzal será dos vaga-lumes e aqueles buracos no escuro de repente janelas.
D. Cecé, no quarto, como se acordasse assustada, vai, quer ver a rua, experimenta o ferrolho da janela que não abre, Na cozinha, vira a cancela dos fundos. Bebendo a água da comida que lhes dava a dona da casa, toda noite, os tajazeiros vigiavam. Só a folhagem ali por cima se deixa alisar macio pelo primeiro sopro da madrugada.
Abriu o camarote e suspendeu o vestido, alto. Celeste recuou, olhando o azul-marinho da saia, a renda nas mangas, o tamanho que era o mesmo dela... O comandante tão absorvido ficou no exame, na contemplação do vestido.
— Talvez o «Tuxaua» não encoste, minha filha. Seguiremos para Breves. Lá é mais seguro para embarcar. Menos carapanã embora com mais azar de apanhar uma febre. Tome, estava escrito que era seu, ao menos por esta noite, por umas horas para guardar de lembrança. Mas não é um lindo...
O comandante escondia-se atrás do vestido no alto suspenso por mãos invisíveis. Foi quando Celeste ouviu o «Trombetas», desatracando, soava o telegrafo, a entranha em baixo se agitando. O comandante quer me vestir para se dar à ilusão de que sou a outra ou de que só assim lhe cabe me apanhar e levar-me ao seu camarote? O navio ganhava o largo. Celeste continuou de pé, a contemplar naquele vestido sabia lá que visões de um rio cheio de 148 vapo|res banhando seringais e trapiches fartos. Impossível para a outra e tarde demais para mim este vestido. E ali atrás, de rosto oculto na saia, aquele homem.
— Sacuda um pouco, comandante, que em pó se vira. De novo o rosto do homem, dobrado, no braço, o vestido.
— Vista ao menos até Breves. E tenho lá no meu camarote as outras coisas.
— O sr. vai ficar com ele a bordo? Eu servi de pretexto?
O comandante não respondeu, colocando o vestido na cama do beliche, saiu, voltou com o embrulho, retirou-se.
Só, Celeste apanhou o vestido com medo, repulsa, e fascinada; conservado, sim, perfeito, cheirava a canforina, sacudiu-o; era de um corte simples, podia vesti-lo sim, estendeu-o ao longo do corpo. Podia vestir? Abriu o embrulho, todas as peças... Conhecedor, era, o comandante. O vestido talhado para o seu corpo.
— Em Breves, deixará o navio e o vestido.
Voltou-se, assustada. Então o homem já não batia? Entrava sem licença? Se a encontrasse?... Também não havia fechado a porta. E aquele adiamento? Nem lhe consultou, ditou: desembarcará em Breve. E se ela quisesse ficar em Curralinho, livrar-se dele quanto antes?
— Vou-me fantasiar, comandante. Licença.
O comandante saiu.
Muitas e muitas vezes, quer reconstituir a cena e sabe que não o consegue. Ou pensa corrigi-la, catando alguma particularidade que imaginou, não aconteceu, criado agora nesta barraca onde ronca o marido?
... Foi uma hora depois, sim, ela saiu do camarote no azul-marinho de Paris. Deu os primeiros passos na promenade e parou, não mais divertida. Ao pé, o comandante contemplava-a. Não viu nele qualquer assombro, apenas sério ou de um repentino ar de ausência que a irritou, já arrependida de se ter submetido àquele capricho. - Não se moveu. O comandante, ausente, aproximava-se. E a modo 149 que o navio, sempre navegando, havia despedido, a tripulação, e só iam ali a Celeste e o comandante. Numa expectativa que não sabia explicar, ou curiosa de saber aqueles enigmas no homem, Celeste permanecia na sombra. Com as luzes apagadas, seu rosto, muito branco, era a imagem da outra? O resto do corpo morria naquele vestido morto. Via, no olhar do comandante, a outra de Belém-Manaus, Manaus-Belém, uma época perdida, o acontecimento que não era dela, da outra, só da outra. Trocaram algumas palavras? Não se lembra mais ou não quer recordá-las. O navio navegava surdo, a proa acesa, as margens passando como se pelos troncos e galhos uma população estivesse espiando, e passavam estirões sem ninguém, águas que não pareciam.
O vestido tinha sido um repente para esquecer-se, mais por desfastio, ver se se acalmava. Mas o comandante veio, sempre ausente, ela desvencilhou-se das mãos dele, entrou no camarote, retirou-se do vestido, daquelas peças do Curralinho, viu-se na cama, aos soluços. Agora, sim, chorava. Chorava largo sem orgulho nem pudor, sem medo nem tristeza, entregue ao seu pranto que nem Muaná, nas tardes de março, entregue ás chuvas grandes. E o olhar do comandante, como se estivesse vendo a outra? Que pensava aquele homem no navio doido, que meios teve de fechá-la no camarote, urdir a teia do baile, das bananeiras. da fuga, cobrindo-a com um tal vestido? Não havia fechado a porta e estava exposta, naquela intimidade, a uma visita dele. E agora sem forças de se proteger, de trancar-se, esperava-o, rezando que não viesse. O navio navegava calado, sem tripulação, numa rota cega e sem fim.
— Por onde andamos, comandante? gritou da porta, num chitão espantado, mangas largas. compridonas. «A defunta era maior». Teria sido mesmo comprado f eito no Coronel Serra? Sabia que ali na sombra, agarrado ao balaustre, estava ele. de tocaia, com seus assôos. E dele ouviu o passo lento até a porta do camarote. Embaixo, surdo, o bater da máquina, aquele sonolento furor de fogo vapor ferragem revirando a velha hélice na água espessa que a selva vomitava. Quanto tempo na viagem? Que 150 distância percorrida? Aquela que ia do vestido do baile ao vestido da outra?
— Por onde andamos, comandante?
Nomes ouviu, confusamente. Falando tão baixo, o comandante confidenciava com o navio, consigo mesmo, urdindo aquela navegação para alguém ausente, a ausente que esvoaçava pela promenade... ilhas Rasas, abaixo da ilha do Farol do Camaleão, a boreste do banco de Samanajós...
— E Breves, comandante?
... monta os paus altos da costa da Tapera... Celeste mal escutava, sentindo naqueles nomes visões e acontecimentos que o comandante invocava para falar da outra, aquela que rejeitou o vestido, este agora no beliche, azul do azul das raras borboletas.
— Vamos entrar nos estreitos de Breves, minha filha. Em Breves, pegará navio de descida. Vamos entrar no Buiuçu.
Ela veio no seu chitão, de chinelas, sempre na impressão do navio deserto, abandonado pela tripulação. De repente o apito. Tinham que pagar lenha num trapiche.
Soava o sino da proa, agora o «Trombetas» apitava, volteando pelo canal estreito e verde, como se navegasse em roda de uma ilha e em cima da folhagem. Na proa, ao lado do comandante, Celeste sondava o ar escuro, o adiante, as voltas vinham, o rio fechava, ali se abria, desfolhava-se num estirão de vento e céu e lá ali tão longe, embora ao alcance da nossa voz, naquela esponja breiosa, devia ser uma luzinha, mais longe que uma estrela, a barraquinha, meu Deus, um taperi, apagou-se, apagou o vaga-lume humano. Brusco a volta do rio engarrafando no folharal das duas margens, o céu se apagava. Em Breves desembarcarei. E de Breves, para onde partirei? A seu lado, o comandante tranqüilo, restituído àquelas ilhas, faróis, pontas, furos, bancos, pedras, trapiches, aos desconformes de semelhante. noite. E com a sua carga a bordo e o vestido da borracha. 151 Ali, sem vestígio de ter parado em Curralinho, de ter gritado pelo Coronel Serra. Não dava conta da presença dela. O ausente agora toma a roda do leme ao marinheiro, quem sabe para guiar-se a si mesmo, acertar seu rumo, tão incerto que está? A arte é saber navegar em nós mesmos, no rio que somos nós. Sentia a respiração dele. E dela o rosto, feito um reflexo, parecia projetar-se na frente do navio sobre as águas. Fazia crer que o comandante volteava o navio não pelas curvas do furo mas para escapar daquele rosto ali sempre diante da proa.
— Quando for o Vira-Saia, me diga, pediu ela, baixo. Pode parar o navio?
— Parar?
Sim, lá na volta. Não está na lenda que contou? Não diz que as moças, lá, fazem parar o navio?
— Neste caso, é você que vai fazer parar, sua ordem, parar, sim, o navio. É seu comando, vai parar.
Celeste recolheu-se ao camarote. Ele havia contado a lenda, mesmo dito: vamos apanhar a volta do Vira-Saia. Vai ver. Decidi passar lá.
No beliche — como também agora no quarto, ao evocar a viagem — Celeste quer ligar a estória àquela última palavra do comandante: eu parar o navio? Que quis dizer com isso? O comandante tinha contado vagaroso, muito explicável: No Vira-Saia tem uma assombração. Raro o navio que entra nessa volta, pelo canal do Aturiá. Outros canais, que levam ao Amazonas mesmo, dão melhor passagem. Agora vamos pelo Vira-Saia. Deu meia-noite, embarcação passando pelo meio da volta, nem que vá a toda, de repente pára. Por mais que puxe, caldeira, motor, remo, a embarcação não vai adiante nem atrás. A água passando, a correnteza puxando, o navio quieto-quieto. No meio da volta e na meia-noite e daquele silêncio, eivém da beirada eivém chegando o chamado, a toada suplicante. São elas do fundo e à flor suplicando roupa. Os caboclos estoriavam: Certo aviado do Coronel Belo, no Aturiá, ia passando pela volta num remar maneiro ao gosto da maré e viu pela beirada aquele tanto haver de moça nua nadando. Via a cabeça duma, a outra num salto de bota, daquela o 152 peito e esta de cabelo comprido que parecia uma folhagem. Foi coisa que lhe arrancava a língua, a palavra: Mas são elas... O nome nem lhe veio. Queria remar, quem disse? A canoa, me diz, por que não andava? Rezar, cadê boca? São elas, me valei, Senhora do Perpétuo Socorro. Remo escorrendo da mão, ele via (era?), via, olhou, delírio de febre? O cardume das fluas. São metade peixe? Ou padecentes deste mundo, despejadas dum cemitério velho. comido pela maré? Visões fluas que reclamavam um traje? Noivas, o noivado perdido? Tamanhas pecadoras? Me valei, São Jorge, me tirai destas amarras, não bebi, aquela folha não fumei. Como sempre se fez em tamanha circunstância, o canoeiro virou a calça do avesso, assim vestiu para quebrar o encanto, e do embrulho onde estava o sal e o tabaco, tirou os dois e meio de uma chitinha tão prometida à mulher, medido no Coronel Belo, a troco de- semente de ucuúba e um sernambi, e para aquelas nuas faltosas de roupa, em pensamento falou: Tomem aí, talhem daí um vestido, ou cem, conforme vosso poder, é o que eu tenho, que a minha posse não dá pra mais, por isto não, se vistam. Marocas, coitada, com tanta percisão, que nua fique lá no jirau, até que eu apanhe umas outras sementes e tire outro sernambi, que esse pano era o que ia cobrirzinho ela. Só sei que em Iara a Marocas não vai-se virar, Deus me diz. Costurem aí, ou a coruja é a vossa costureira, a jaquiranabóia, as ciganas do aningal? Se sirvam da chitinha, é pano bem pobre, mas me deixem passar, vos peço.
No que jogou a chitinha rumo delas, foi a canoa em cima da correnteza e já um estirão longe. Um sono? Um passamento? Puxou um suspiro — rema, meu compadre remo, bota tua sustância na mea mão, no meu peito, não renega — meteu que meteu o remo n’água, pra nunca mais passar ali. Embarcação que não atendesse, não atirasse para elas uma quantidade de roupa, cadê que saía do lugar? Vinha, delas um rouco suplicar, um cantar do fundo, assim ouviam os navegantes, assim falavam os pescadores, corria a estória pelos Estreitos, fazia parte das muitas conversações, as nuas aiando pediam o que vestir; e quanta roupa que se atirava, não saciava a nudez delas? E assim era, 153 se via, na volta do Vira-Saia, bubuiando rente da beirada a porção de roupas, panos de muita intimidade, os votos dos fiéis; era dos navegantes que deixavam, sabiam existir ali um reino daquelas, sempre tão fluas, que nem toda roupa do mundo era bastante.
Celeste não sossegava. O baque-baque do «Trombetas» a modo que ia rachando o navio. Entrava pela vigia uma noite dos bichos, do aningal e das nuas em cima do mururé e da baba do remanso. Noite sem uma luzinha um relumeio na solidão, dum pescador, dum errante, um vivente que dali lhe acenasse e soubesse que ela, sem talismã, naquela viagem, não tinha um fim, uma razão nem amor nem mesmo ódio, agora tão mudada, semelhante àquelas suplicantes do remanso. De súbito se lembrou: num São João, sabendo de sua sorte, de manhã na cuja d’água que serenou durante a noite, um navio desenhou-se, apareceu. «Tu vais casar com um marujo» a irmã lhe diz. O meu marujo. Tu vais casar com um marujo.
Nisto:
— O Vira-Saia.
A voz daquele marujo, Celeste .estremeceu. Havia de ver mesmo as nuas a agitar o braço e com os compridos cabelos atando o navio ás suas ancas? Dava precisamente meia-noite. Bem que o comandante a hora calculou.
— Agora, comandante.
— Não quer antes que elas...
— O sr. primeiro,
Divertido, o comandante hesitou um momento, vagaroso para a proa; soou o telégrafo. Celeste, olhar na beirada, séria; o navio foi sossegando, parando, parou. Em roda os botos fungavam. Dentro d’água, em cima, sentadas nas aningueiras, nos jacarés, deviam de estar as fluas do Vira-Saia? Ou aquelaszinhas dos trapiches, jiraus e estivas de beira-rio, depois que os homens depenavam?
— Os faróis, comandante.
Queria os faróis assestados para a margem. De feito, Celeste viu as roupas votivas bubuiando. Das moças nuas nem um suspiro. As luzes do navio parado encandeavam 154 o mato e a espessura da beirada era de uma torva amarelidão salpicada de verde e olho de jacaré, aquele tom de enxofre num pano que inchava à flor d’água. Ali flutuavam os enxovais, no fundo, oculto, o reino das nuas que suplicavam, agora não. Celeste retirou-se, o comandante dirigiu-se para o leme, ela correu e lhe pediu que não, ainda não, e foi ao camarote, voltou com os dois vestidos, devagar, estendidos nos braços, reluzentes na sombra do promenade, o seu do baile e o azul da outras os dois que ela trazia nos braços.
— Mas que vai fazer, menina?
Debruçou-se, e da borda inclinou-se mais, e duas vezes os braços balançou e atirou; lá em baixo, os vestidos abriram-se, na direção das suplicantes.
D. Cecé, no quarto, olha no espelho da cômoda — há tantos anos! — os vestidos abrindo-se; o dela, pesado do baile, de Muaná, de repente some-se, e ainda à flor d’água o outro e neste aquela-uma se enfia, enfia o fino corpo molhado e suplicante, a moça de outrora no vestido de Paris que foi sempre o seu e assim arrastou de uma vez para o fundo festas, navios, fortunas que teimavam existir aqui fora como saudade ou esperança.
Debruçada no navio, Celeste, ou agora a d. Cecé, as duas, naquela noite dos Estreitos e nesta da Passagem, as duas subitamente felizes. Livres de tudo que o vestido do baile carregava. Ao virar-se para o comandante, outra outra, Celeste sentia-se, como também podia acontecer agora com a d. Cecé se quisesse ver o rosto bem perto no espelho, refletindo a lembrança da viagem. Um alívio, então? Alegria, ou coisa semelhante, nela se acordava, coisa de um alumiamento? Tinha atirado n’água com aquele vestido do baile a moça do Muaná, fosse esta virar metade peixe entre as suplicantes, a debater-se nas aningas da volta mal-assombrada. Daquele instante — o navio em marcha — podia viajar sem temor, entregue à sua viagem, imune ao comandante, ficasse em Breves ou em Manaus, nunca mais os dois vestidos nem Muaná, morreu Curralinho, em breve do «Trombetas» desembarcaria, nem mais a 155 incer|teza ou o medo, vergonha ou qualquer gesto do comandante que a deixasse ansiosa ou atormentada. Devolvia a peçonha ás cobras, Não podia senão escolher o seu caminho depois da queda. E era a queda que lhe permitia salvar-se. Os botos saltavam atrás na maresia do «Trombetas».
Mas aí deu nela aquele primeiro arrepio, o gelado tremor e terror, a febre do paludismo — trazido de Muaná ou do Curralinho? — e não passaste dos Estreitos, Celeste, não varaste o labirinto, não desembocaste no rio largo nem a Breves chegaste. Na febre, as encantadas te puxavam para as suas súplicas no remanso, o navio deu atrás, de novo te levou ao Curralinho, de novo pelas ilhas, faróis, Caim, Japiim, Tucumanduba, até Belém, aí no navio com a febre, chá, quinino, delírio, comandante na cabeceira; no delírio, as nuas lhe devolviam os dois vestidos, lá vinha o baile a bordo e dentro da folha a peçonha: debaixo das bananeiras, estava a cobra no charco, a mulher de escuro matando a sede num homem, este o seu Messias de Melo, o coletor federal, e aquela a d. Teodora a d. Teodora, a d. Teodora Coimbra de Oliveira, senhora do dr. Felício de Oliveira, a d. Teodora, ela. Ah que a febre é de quarenta fúrias:
era ela, os dois porcos, seus focinhos, ela a mãe! Acordou em suor, o «Trombetas» voltando, adeus a moça que ia ser no Amazonas, ia subir no Solimões, adeus Celeste sem Coimbra nem Oliveira, não mais filha da d. Teodora. E ali no cais o Antonino Emiliano. à espera da filha da d. Teodora, Cecé de volta. Belém girando na cabeça, girando na cabeça, giravam as alvarengas, me cubram a vergonha, velas do Ver-o-Peso; girava o cabo lançado para a terra... Sem um pingo de sangue. se sentia. Esvaziara as veias em Curralinho. O amargo do mundo no pão, na água, nas meias palavras que murmurou. Temia cambalear. Seca, esvaída, velha e ausente, por dentro estava, sim.
Alfredo, essa noite, ouviu passos e espiouzinho do corredor: no quintal, a d. Cecé, de branco, o sapato de camurça, soltando os cabelos. O mesmo sapato com que saiu, na véspera, a sua tarde de quarta-feira.
156 Depressa ela entrou, vagueou pela cozinha, um chá frio bebeu; no quarto arma a rede, embala-se, embalou-se, embalou-se, desarmou — o marido nos roncos — deitou-se na cama. Alfredo se embalando, de cuíra e batendo carapanã.
Do lado de fora, no quintal, ao pé da parede que a ride roçava, o sapo: mas que tu tem, meu caboquinho, que tu tem?
Ao tocar o pé no chão, sentiu o úmido, o pegajoso. como se tivesse passado cobra. Enrolou-se na ride, o sapo a lhe confirmar: foi a cobra, foi a cobra, foi a cobra. Devia ser um sapo velho, freqüentador dos quintais e moradias, bisbilhotando a Inocentes. Velho espião da noite contando as intimidades que abelhudava.
Alfredo levantou meio corpo da ride, cochichou:
— Mas ao menos te cala, barulhento.
O espião, lá de fora, podia espiá-lo pela fresta da parede, bem rente ao chão?
— Eras, seu linguarudo. Bico-bico, meu mexeriqueiro.
Aqui o velhote, lá do sereno, engrossa a voz num ralho agourento, coaxando sobre a d. Cecé, o seu Antonino Emiliano, o Belerofonte. Tinha nos olhos de sapo o vulto de d. Celeste branqueando pelo quintal? Alfredo se impacientou. Repugnava-lhe, agora, pisar o chão. Dum instante para Outro, a modo que o sapo ia lembrando o avo velho de Muaná, com a sua falância pausada, o seu pigarro sabido tecendo cestos noite a dentro.
— Que paneiro é esse teu tecendo aí, meu sem-sono, meu avô torto. Chamando chuva, agoirento? Pára, com esse badalo!
Semelhante sapo!
— Cururu, és? Qual tua raça, tu me conhece? É a Andreza aí dentro de ti falando, é? Te calaste? Quem cala, consente. Mas vai, pula na ride do Belerofonte, mija nos olhos dele, do cão. Vai, que um tostão te pago.
157 Mas Alfredo se embalou, e estremeceu, pois que indo assim, indo assim, acabava virando o cururu numa coisa que sempre imaginou no seu medo, ao estar só no escuro.
O sapo cantarolou:
— D. Cecé sono não tem, Bem que estou te escutando os pensamentos, rapaz.
Rapaz? Rapaz escapou-lhe no cochicho. Rapaz. Ah sapo!
Lembrou-se: lá uma vez em Cachoeira, ele voltava do campo, o carocinho no ar, e já, ao pé da cerca, tinha um sapo, o olho em cima, a saber o que ia acontecendo dentro do carocinho no giro do faz de conta, as coisas que dali saltavam, tantas que só em Belém cabiam. E aqui estava Belém tão Passagem dos Inocentes.
Quanta falta, mas bem grande, dos dois de Nazaré, daquelezinho Antônio e dela, a Libânia. Pendurou a cabeça fora da ride, espichou-se, pode apanhar os tamancos, foi ao corredor. Ao pé da entrada da sala, a Arlinda dormia. De punho torcido e esfarelando, a ride afundava e Alfredo via lá no fundo, no poço feito de saca de milho, aquele miúdo bicho encolhidinho. Andava no ar a passagem de d. Celeste; a modo de um perfume saía das roupas guardadas na mala, do navio em que ela fugiu, um tão antigo cheiro, mas. de que tempo, quando? onde? Da Valdomira, uma boca da noite no chalé, — deita no meu colo, meu namorado — a cabeça dele no mais macio, todo-todo um maciúme?
Alfredo num sobressalto. Pois ao chegar de Muaná foi recebido por uma dona toda entonada, agora, no correr das noites, a mesma dona a abrir a mala, mirando e revirando os vestidos, e dela a visagem no quintal? Razão tinha o Belerofonte ao ir tirando, um por um, aqueles vestidos da mala?
Então, como se brincasse com Libânia e Antônio, colocando a irmã cega numa ride alta, cochichava: Mostra o que tu sabe, sapo velho, fazedor de artes, desencanta desta palhoça, a casa da d. Cecé. Tira daqui o navio e eu também dentro, a rua, um rio, com correnteza forte nos suma. 158 Vamos nós todos, velho cururu. E também a professora Maria Loureiro Miranda.
Da terceira janela do segundo andar do Grande Hotel, ela podia ver o folharal cobrindo o largo da Pólvora de onde irrompia, pesado e solitário, o Teatro da Paz. Aqui em baixo o terraço dos sorvetes e dos homens de branco ou paletó azul-marinho, calças de flanela, a palhinha nova-nova dos chapéus. E entre eles, muitos, tão entonados, almofadinhas locais, havia um, à mesa do centro, sem paletó, sozinho, defronte de um copo alto — sorvete não era nem refresco nem leite. Gim? — Um louro de tão inocente cor e que lhe falava das manteigas da Europa e das gemadas tão bem batidas pela Divina no Muaná. Meu Deus, aquele no terraço, por certo hóspede, louro e só e seu copo alto. Calor. Veio o garçom com um balde, lhe derramou gelo no copo e o louro o dedo dentro, mexeu, mexeu, um tanto pensativo ou vagaroso no beber. Celeste teve um sobressalto: aquele? Quem sabe não era o piloto do navio inglês que foi uma tarde carregar no Muaná? Pressentia neste dagora aquele de há três anos. O navio carregava. Por uma curiosidade, ela no trapiche, e ele do navio, ambos se encontravam, só os simples olhares, depois adeus, carregou, adeus. Até São Nunca, marinheiro inglês. Semanas passaram, saltou a noticia: o buque afundou-se na Costa Negra. Mais estória que verdade, se dizia que o piloto teria ficado na Caviana, dono de garçais e rebanhos num sem fim de miragem e terror. E será que ele reaparece, a mesma cabeça loura, ali com o seu copo alto? E quis chamar da janela, baixinho: «Oi seu piloto, voltou pra me levar, foi? Pois vamos.» E parecia que entre todos ali o mais bem vestido era ele, a calça caqui, a camisa muito machucada e simples alpercatas, Todo aquele paletozal de casimira, flanela, linho e colarinho virava fantasia roceira, os matutos escaldavam naquele trinque suador, enquanto o louro no meio do terraço, diante do copo alto, na melhor moda estava. Ela, da janela, no te aprecio. Deus! uma coincidência, será o louro do cargueiro inglês? A Caviana, a Costa Negra, devolveram o homem são ou está ali, com a sua calma louca, 159 com as visões do vapor rebentando nos baixios engolido pelas mil bocas da lama entre a danação dos tubarões e lá no longe a luz da Caviana? Lhe deu um repente de atirar no desconhecido, bem na cabeça, a flor que tinha na mão, flor? coitada, flor coisa nenhuma, somente um botão de cera de sua resignada grinalda de casamento, um botão que nem sabia por que seus dedos amassavam com miúda impaciência. Cera. Cera. Em Muaná, as velhas, era só se aborrecerem, diziam: Ara, cera! Depressa se desmanchou a grinalda entre as poucas pessoas presentes ao ato; da família só o Leônidas, e chegando, atrasado, sobrecasaca e leque, o Desembargador Serra e Sousa. Assim, na janela do hotel, vigiava o terraço, e nisto um vento fez voar o lenço caiu bem ao pé daquele sem-paletó lá na cadeira onde o copa que nem um lírio ,alto, estava agora na mão do seu bebedor vagaroso. Logo, sempre com o lírio cheio na mão, vagarosamente espiou correndo as janelas do hotel e parou na terceira; Celeste viu-lhe a gentileza, a altura — conforme viu do marítimo inglês — e viu que ele acenava num cumprimento como dizendo se o lenço, que tinha um C, era da senhora ou coisa semelhante... Sim, respondeu ela a si mesma, tão baixo que nem ela podia escutar, adivinhando ou não naquele homem a lenda ou a verdade que corria pelos mares da Caviana. E saiu da janela. Por que? Por que fugiu, ora esta! Escondeu-se atrás da veneziana. Lenço na mão, copo na outra, o homem tinha o olhar na terceira janela.
Estava só naquela tarde longa. Belém, com sinais de chuva para os lados de Utinga, debaixo das mangueiras e nas redes, cochilando. Agora, atrás da veneziana, Celeste escutava uma cidade sem ruído que fazia, na sesta, a digestão das mangas e do açaí. Entrava pelo quarto, soprado dos sorvetes, no terraço, o hálito dos abricós e do cupuaçu. E o aceno, ou o hálito também? daquele homem. Ali, no segundo andar, nunca estivera tão alto, por cima de coisas, de existências, de Muaná, do baile a bordo, daquele casamento.
Antonino Emiliano, na segunda tarde de hotel, já de maletinha na mão, lhe diz, entreabrindo a porta para sair, 160 que o pai estava mal no sítio. Eu vou, tu ficas, uns dias só. Mal bateu a porta, uma desconhecida pulou de dentro dela, escancarou as venezianas, soltou um ah! ah!, tão alto que a recém-casada se assustou, tapando a boca sem tapar a intima indagação: até que ponto desci? Mas tal indagação desatou-se naquela surpresa por fora: só, só, de repente. ah tão inesperado, santo Deus, pela primeira vez só, não me castigue, Senhora de Nazaré, é ver me sentindo a bordo mas livre e além do labirinto de Breves, já no Solimões. Ouvia um vago ruído no terraço, seguiu-se a música do jantar, que lhe pareceu tão remota mas prometedora, e a luz do Olímpia e o faiscar da lança dos bondes no fio elétrico e uns passos no corredor: ele, de volta? Os passos morreram. Não desceu para jantar, estava farta, um ar, no quarto, bom, amaciava o escurinho que a envolvia e ela aos poucos ia restituindo-se a si mesma. Mas restituir-se não significava voltar à mocinha de Muaná, agora que um marido a tornava senhora e, por quase milagre, a deixava naquele quarto de segundo andar do Grande Hotel. num tal repentino estar só uns dias... sentou-se sufocada. Voltava a olhar com seus olhos, a andar com seus movimentos? Como se até aquela hora desde o baile, viagem, febre, desembarque, casamento, estivesse privada de si mesma. Quis ficar no arejado escurume, a esperar por mais longas noites assim, que lhe fossem comunicando, devagar, que ela casou. Ouvia passos: já, o homem voltando? Quero, ao menos, um fôlego, fazer um juízo desta minha nova condição ou de nova miséria. Mas eivém esta lembrança, saindo de dentro do meus horrores: se aquele das bananeiras, o porco, depois de cevar-se na outra, viesse e batesse ali e a chamasse e insistisse e ela no ódio na fúria de repeli-lo, em vez de pedir socorro, de conservar trancada, abrisse a porta? Ao menos este repouso, este sossego, sem companhia, depois da mais recente prova, dessa primeira punição que lhe impôs o Antonino Emiliano, por sentença do juiz, benção do padre, a prova que passou, dente ferrado, esvaída num silêncio e daí saindo para agora pedir uma feroz castidade dai em diante ou dar-se à toa, à toa. pela total desvalia do que dava, desamorosa para sempre. 161 Ah. Deus foi bom adoecendo aquele velho no sitio, adoeça demorado, prenda o filho por uns dias mais, te cala, pensamento, toda hora, aqui dentro ,esta cascavel desovando? É atrás da veneziana e lá em baixo a aparição: o piloto do cargueiro inglês. Pela primeira vez, deu um sim e da janela, o lenço, sim, era meu, não só o lenço, eu inteira sim, cavalheiro do copo alto, onde está o teu cargueiro? Sobe e me carrega na tua garupa. Ah. Nossa Senhora de Nazaré. de joelho vos peço, atrás desta veneziana veja que triste pecadora. Quem sabe se não tenho ainda de acender uma vela por alma daquele para sempre sumido na Caviana? Foi o marido partir e embarquei no «Trombetas»?
Depois do regresso dos Estreitos, tudo lhe aconteceu numa espécie de morna apatia, levada do cais e atirada numa casa de São Jerônimo, a pontada no fígado, o ouvido zoando, a lâmina de gelo trespassava-lhe o corpo. Até então, até aquela tarde em que ficou só, sentia-se saru. como diziam as velhas de Marajó. Saru, obra de um malefício, um simples mau-olhado, que torna a pessoa imprestável durante um pouco tempo ou muito, e foi imprestável toda e qualquer coisa que apalpe, olhe, deseje, o próprio semelhante que lhe de a mão. Pobre Antonino Emiliano. Saru, é quando o mato empanemou, não dá mais caça, empanemou o cachorro, o caçador, a espingarda. Saru o lago que anzol nenhum puxa mais peixe, saru se diz da mulher prenha e de quem a emprenhou. Ela, prenha, estava? De um bicho a sua prenhez, de quantos nove meses? esqueci os meus panos de lua na beira do rio, por isso a cobra me emprenhou? Prenhez que deixou o navio, o comandante saru. Lá depois se soube, no Solimões, o «Trombetas» no fundo. E saru este casamento. Eu mesma me amaldiçoei? Mas foi o homem dizer eu vou por uns dias então boa viagem, benze-te, benze-te, Celeste, neste momento deu peixe no. lago, caça no mato, baixou a prenhez, não mais saru e lá em baixo o cabeça de gemada bebendo num lírio.
Sim, o homem alto, com timidez, lhe devolveu o lenço, chegando de elevador, bem leve bateu a porta, alto, avermelhado, louro. Lenço na mão, meio aturdida, num querer rir e ficar séria, Celeste ouvia o ruído do elevador levando 162 de volta aquele apressado. Dentro do lenço um cartão, o nome inglês. Não demorou um minuto, de novo o homem na porta do quarto, parecendo mais avermelhado, mais louro, mais alto. E só dizia: Manaus. Manaus. Nada mais senão Manaus? Era o piloto? Era e não era. Tinha a altura, o cabelo, sem o uniforme de bordo; em Muaná a visão foi um pouco de longe, do trapiche para o cargueiro, o homem estava mais no mar que em terra, mais na Inglaterra que no Brasil, um desejado homem na amurada. Aqui, sem nada para lhe devolver, o homem mastigando um «Manaus», «volta», e o seu inglês de cambulhada, já os olhos cochilavam. Ela lhe bateu a porta. Destruiu o cartão. Esperou. O piloto inglês, era? Esperava. Viu o piloto de longe no cargueiro, bem louro, sim, sabia. Do rosto, seus movimentos, não estava mais certa. Há três anos. Três anos em que foi o judeu, foi o padre, baile em cima de baile, a ronda daquele porco das bananeiras. Dele ficou a visão de bordo no rumo da Inglaterra. Mas a Costa Negra abocanhou o buque; a Caviana fisgou o louro pelo cabelo; agora entre os garçais e as onças? Manaus. Também disse: Bocelaine? Da janela, olhou: Estava ele no terraço, o lírio cheio, bebendo apressado. E de pé, desinquieto, um cavalo sem éguas relinchando surdo pelo terraço, agora atrás daquela que boiou das transversais, de chapéu, estalando seda e brincos e pulseiras e colares, entrando ambos no Olímpia. Na mesa do centro o lírio vazio. Por desalento, abandono, deixou cair o lenço, ninguém nem viu, alguém passando pisou. Da janela, esperou a saída do cinema, esperou, esperou. Nisto, é a porta, o Antonino Emiliano.
O mesmo que a recebeu no cais, O mesmo que sem uma palavra lhe apresentou os papéis do casamento e ela, a um gesto dele, assinou e tudo sem uma palavra. Até o enxoval, foi ele. E sem que ela dissesse nem sim nem não chega o dia de ir na Trindade, eles no carro, os padrinhos, os convidados. Nem no juiz sentiu sair de sua boca a palavra, como se fosse ele que a segurasse pelo pescoço, a fizesse mover a cabeça, que nem boneca, para dizer sim. E receba os cumprimentos, corte o bolo na São Jerônimo, 163 bata o retrato de véu e grinalda e entra no carro e tudo nas menores monossílabos. Quando viu, parava no Grande Hotel.
Como foi tudo, quem sou, que fiz, cheguei até aqui por que? Que outra viagem é esta? E tudo só merecia riso, triste pena, a risada de Muaná, a Areinha rindo, O próprio Antonino Emiliano nem a sério a levou. Tal a segurança dele, que tudo fez, por conta e risco, usou de direitos, leis, seu instinto e desejos com uma urgência e talvez com um escárnio! Rancor não via nos olhos dele nem nas mais triviais palavras, e dos silêncios ao pé dela escorria uma boa paciência, o bom empenho, não a levando a sério e ao mesmo tempo o tom prestativo de quem acode a doente, parecendo falar: tinha de te acontecer, menina. A viagem só te tirou foi a meninice, deixaste lá a Celeste solteira, já desembarcaste minha. E assim se apossou dela madrugada a dentro, anos afora e de tudo isso o Belerofonte.
Antonino Emiliano, naturalmente, ela podia supor. guardava a meiga zombaria, a azeda compaixão, a macia vingança? Ou pensou que na namorada perdida restava a herdeira ainda rica? Nele foi um cálculo? Mas não foi depois o testamento da fortuna? Que sobrava? E por que nunca nada lhe perguntou? Por que, sem uma palavra, lhe colocou a grinalda, os botões de laranjeira, e dela dispondo inteiramente na cilada nupcial, nada, nada, lhe falou? Deus, só encontrou a gelada virgindade. Que Celeste ele conheceu? Nem ao menos adivinhou. E ela também de si sabia?
Algumas vezes, no Trombetas», queria o Antonino Emiliano ali presente, que tudo daquele amor contrariado seguisse a bordo, fazendo parte da navegação. E agora do namorado restou o pai de Belerofonte. O filho quem sabe feito pelos homens que amava na sua imaginação e na sua castidade? Podia esse homem ser marido destas três que sou, sem que estas três formem aquela que eu devia ser, se transpusesse os estreitos de Breves, chegasse ao Solimões?
E todos os mimos para o filho eram um disfarce, substituíam a ternura que desejaria ter e não tinha. Todos 164 os mimos tentavam ocultar o risco de perder totalmente o filho ideal que ia-se extinguindo naquele Belerofonte, montado no capadinho do Círio. Era um temor alimentado por uma espécie de inércia que sempre teve em educar o filho, culpada, por isso mesmo, se julgava, cada vez mais responsável pelo monstrinho que dali saía... E o pai, atrás de fretes, transpirando mitologia e cachaça, suando nas rinhas, com um vermelhão na cara, gozando a sangria dos galos. Nem ao menos: que motivo foi? nunca lhe perguntou. Era uma tática de esquecimento, perdão ou indiferença que a ofendia devagarinho, atirava areia dentro dela. Até que ficou o fim, nesta Passagem. E dai a aceitar tudo como uma punição do diabo a quem não se entregou, esquecida de Deus ou este, em combinação com Aquele, mandava que Belero lhe destruísse os vestidos e. . . Peso das culpas no ombro? Dizem os médiuns, os livros da encarnação, o vaivém das almas. E aquela, de seu pai, por onde? Antes de morrer, chega em Belém, descendo da moldura e do cabide, do seu gesso e da beca, e vem e quer dizer algo e não diz, a boca treme, não diz, por dentro um homem a debater-se, por fora sufocado e um gelo a mão que a abençoava.
Sei que esse menino, o Alfredo, está acordado, numa insônia de adivinho. Me imagino na beira da sua rede, querendo conversar, inventar estas e aquelas estórias de bordo...
Pronto, Belerofonte acordou gritando, O seu berro. A sua dor de dente. Gerei de um homem esse filho ou do caitetu que me botou a bordo, me tornou ao cais, me entregou a um marido? Aqui está ele, o rosto envolto num vestido da mala, e dando pontapés, o gritar doido.
— Bochecha de novo, meu filho. Bochecha. Dorme que passa.
O que val é que em junho estou eu em Muaná, entre os meus azulejos. Arlinda aqui de pé? Meu Deus, Belerofonte vai acordar a Inocentes inteira...
— Amanhã, vou mandar benzer teu dente, meu filho. Aqui dentista perto, nem por sonho. Esta Passagem nunca 165 tem um adiantamento. Dorme que passa, Arlinda, te deita. Alfredo! Alfredo! Estás dormindo?
Também só agora explica a si mesma o que até então sentiu absurdo, tão bruscamente sentido quanto inaceitável. Sabe que foi atingida, naquela emboscada das bananeiras, nos seus dois extremos, o do seu amor e respeito à família e a parte mais inconfessável de seu ser. E isso lhe completou a confusão, o desentendimento de si mesma, o estado saru. Na emboscada, depois do primeiro extremo, desatou o outro ao ver o homem, quem, que ali estava. Aquele, precisamente? Aquele, de quem, uma vez, quase se queixou à mãe, pela gentil impertinência, um cerco astucioso, nunca na vista, um homem já de sua idade, casado, se bem que sempre um belo homem... Fosse no arraial, trapiche, baile, encontro de rua, uma vez em Belém, brotava ele com um ar de quem espia a caça, antes de lançar a armadilha. Mas esse homem... Cresce-lhe a preocupação, a repulsa, um começo de rancor, o homem atrás ou diante dela; mas é também uma curiosidade, ou simples querer saber até onde queria chegar o caçador? Saber tudo isso era aceitar, ao menos admitir, a inconveniência? Sabia que ao lhe aumentar o gosto de repelir com um desaforo, uma grosseria (que ele não dava ocasião), sentia-se mais impura; em vez de distanciá-la, a repugnância a levava para mais perto? Ele ao aproximar-se, usava sempre a delicadeza, uma cautela que só ela percebia o avesso. De longe era a exibição de sua estampa, um manhoso e galante passar e repassar entre as moças estas confusas e lisonjeadas, e de repente o olhar, aquele, por cima de todas direito nela. Tudo uma arte, uma astúcia que encobria a outra coisa. Se via naquela finura a intenção grossa. Aquele Coletor federal não tinha lugar no mundo, sempre em trânsito, em eterna transferência, — atrás de que e de quem? — pousando em quase todas as coletorias do Pará e do Amazonas — demorou pouco em Muaná — a arrastar aquela sempre tão mulher do Coletor, muito hábil em se fazer mais mártir 166 e mais digna de pena ao pé do belo homem. Celeste olhava o par e lá estava o caçador na sua mira. Disso ela sabia? Quem lhe avisava claro? O extremo que havia nela, de flirtar o impossível, roçarzinho a aventura, ao pé do arrebatamento e da culpa, por um fio, a brasa nas mãos, mas sem queimar-se nunca, nunca o pé em falso? Dá-se a emboscada e nela violentamente os dois extremos se tocaram, misturaram-se, enganados, traídos.
Celeste não sossegava. O baque-baque do «Trombetas» a modo que ia rachando o navio. Entrava pela vigia uma noite dos bichos, do aningal e das nuas em cima do mururé e da baba do remanso. Noite sem uma luzinha um relumeio na solidão, dum pescador, dum errante, um vivente que dali lhe acenasse e soubesse que ela, sem talismã, naquela viagem, não tinha um fim, uma razão nem amor nem mesmo ódio, agora tão mudada, semelhante àquelas suplicantes do remanso. De súbito se lembrou: num São João, sabendo de sua sorte, de manhã na cuja d’água que serenou durante a noite, um navio desenhou-se, apareceu. «Tu vais casar com um marujo» a irmã lhe diz. O meu marujo. Tu vais casar com um marujo.
Nisto:
— O Vira-Saia.
A voz daquele marujo, Celeste .estremeceu. Havia de ver mesmo as nuas a agitar o braço e com os compridos cabelos atando o navio ás suas ancas? Dava precisamente meia-noite. Bem que o comandante a hora calculou.
— Agora, comandante.
— Não quer antes que elas...
— O sr. primeiro,
Divertido, o comandante hesitou um momento, vagaroso para a proa; soou o telégrafo. Celeste, olhar na beirada, séria; o navio foi sossegando, parando, parou. Em roda os botos fungavam. Dentro d’água, em cima, sentadas nas aningueiras, nos jacarés, deviam de estar as fluas do Vira-Saia? Ou aquelaszinhas dos trapiches, jiraus e estivas de beira-rio, depois que os homens depenavam?
— Os faróis, comandante.
Queria os faróis assestados para a margem. De feito, Celeste viu as roupas votivas bubuiando. Das moças nuas nem um suspiro. As luzes do navio parado encandeavam 154 o mato e a espessura da beirada era de uma torva amarelidão salpicada de verde e olho de jacaré, aquele tom de enxofre num pano que inchava à flor d’água. Ali flutuavam os enxovais, no fundo, oculto, o reino das nuas que suplicavam, agora não. Celeste retirou-se, o comandante dirigiu-se para o leme, ela correu e lhe pediu que não, ainda não, e foi ao camarote, voltou com os dois vestidos, devagar, estendidos nos braços, reluzentes na sombra do promenade, o seu do baile e o azul da outras os dois que ela trazia nos braços.
— Mas que vai fazer, menina?
Debruçou-se, e da borda inclinou-se mais, e duas vezes os braços balançou e atirou; lá em baixo, os vestidos abriram-se, na direção das suplicantes.
D. Cecé, no quarto, olha no espelho da cômoda — há tantos anos! — os vestidos abrindo-se; o dela, pesado do baile, de Muaná, de repente some-se, e ainda à flor d’água o outro e neste aquela-uma se enfia, enfia o fino corpo molhado e suplicante, a moça de outrora no vestido de Paris que foi sempre o seu e assim arrastou de uma vez para o fundo festas, navios, fortunas que teimavam existir aqui fora como saudade ou esperança.
Debruçada no navio, Celeste, ou agora a d. Cecé, as duas, naquela noite dos Estreitos e nesta da Passagem, as duas subitamente felizes. Livres de tudo que o vestido do baile carregava. Ao virar-se para o comandante, outra outra, Celeste sentia-se, como também podia acontecer agora com a d. Cecé se quisesse ver o rosto bem perto no espelho, refletindo a lembrança da viagem. Um alívio, então? Alegria, ou coisa semelhante, nela se acordava, coisa de um alumiamento? Tinha atirado n’água com aquele vestido do baile a moça do Muaná, fosse esta virar metade peixe entre as suplicantes, a debater-se nas aningas da volta mal-assombrada. Daquele instante — o navio em marcha — podia viajar sem temor, entregue à sua viagem, imune ao comandante, ficasse em Breves ou em Manaus, nunca mais os dois vestidos nem Muaná, morreu Curralinho, em breve do «Trombetas» desembarcaria, nem mais a 155 incer|teza ou o medo, vergonha ou qualquer gesto do comandante que a deixasse ansiosa ou atormentada. Devolvia a peçonha ás cobras, Não podia senão escolher o seu caminho depois da queda. E era a queda que lhe permitia salvar-se. Os botos saltavam atrás na maresia do «Trombetas».
Mas aí deu nela aquele primeiro arrepio, o gelado tremor e terror, a febre do paludismo — trazido de Muaná ou do Curralinho? — e não passaste dos Estreitos, Celeste, não varaste o labirinto, não desembocaste no rio largo nem a Breves chegaste. Na febre, as encantadas te puxavam para as suas súplicas no remanso, o navio deu atrás, de novo te levou ao Curralinho, de novo pelas ilhas, faróis, Caim, Japiim, Tucumanduba, até Belém, aí no navio com a febre, chá, quinino, delírio, comandante na cabeceira; no delírio, as nuas lhe devolviam os dois vestidos, lá vinha o baile a bordo e dentro da folha a peçonha: debaixo das bananeiras, estava a cobra no charco, a mulher de escuro matando a sede num homem, este o seu Messias de Melo, o coletor federal, e aquela a d. Teodora a d. Teodora, a d. Teodora Coimbra de Oliveira, senhora do dr. Felício de Oliveira, a d. Teodora, ela. Ah que a febre é de quarenta fúrias:
era ela, os dois porcos, seus focinhos, ela a mãe! Acordou em suor, o «Trombetas» voltando, adeus a moça que ia ser no Amazonas, ia subir no Solimões, adeus Celeste sem Coimbra nem Oliveira, não mais filha da d. Teodora. E ali no cais o Antonino Emiliano. à espera da filha da d. Teodora, Cecé de volta. Belém girando na cabeça, girando na cabeça, giravam as alvarengas, me cubram a vergonha, velas do Ver-o-Peso; girava o cabo lançado para a terra... Sem um pingo de sangue. se sentia. Esvaziara as veias em Curralinho. O amargo do mundo no pão, na água, nas meias palavras que murmurou. Temia cambalear. Seca, esvaída, velha e ausente, por dentro estava, sim.
Alfredo, essa noite, ouviu passos e espiouzinho do corredor: no quintal, a d. Cecé, de branco, o sapato de camurça, soltando os cabelos. O mesmo sapato com que saiu, na véspera, a sua tarde de quarta-feira.
156 Depressa ela entrou, vagueou pela cozinha, um chá frio bebeu; no quarto arma a rede, embala-se, embalou-se, embalou-se, desarmou — o marido nos roncos — deitou-se na cama. Alfredo se embalando, de cuíra e batendo carapanã.
Do lado de fora, no quintal, ao pé da parede que a ride roçava, o sapo: mas que tu tem, meu caboquinho, que tu tem?
Ao tocar o pé no chão, sentiu o úmido, o pegajoso. como se tivesse passado cobra. Enrolou-se na ride, o sapo a lhe confirmar: foi a cobra, foi a cobra, foi a cobra. Devia ser um sapo velho, freqüentador dos quintais e moradias, bisbilhotando a Inocentes. Velho espião da noite contando as intimidades que abelhudava.
Alfredo levantou meio corpo da ride, cochichou:
— Mas ao menos te cala, barulhento.
O espião, lá de fora, podia espiá-lo pela fresta da parede, bem rente ao chão?
— Eras, seu linguarudo. Bico-bico, meu mexeriqueiro.
Aqui o velhote, lá do sereno, engrossa a voz num ralho agourento, coaxando sobre a d. Cecé, o seu Antonino Emiliano, o Belerofonte. Tinha nos olhos de sapo o vulto de d. Celeste branqueando pelo quintal? Alfredo se impacientou. Repugnava-lhe, agora, pisar o chão. Dum instante para Outro, a modo que o sapo ia lembrando o avo velho de Muaná, com a sua falância pausada, o seu pigarro sabido tecendo cestos noite a dentro.
— Que paneiro é esse teu tecendo aí, meu sem-sono, meu avô torto. Chamando chuva, agoirento? Pára, com esse badalo!
Semelhante sapo!
— Cururu, és? Qual tua raça, tu me conhece? É a Andreza aí dentro de ti falando, é? Te calaste? Quem cala, consente. Mas vai, pula na ride do Belerofonte, mija nos olhos dele, do cão. Vai, que um tostão te pago.
157 Mas Alfredo se embalou, e estremeceu, pois que indo assim, indo assim, acabava virando o cururu numa coisa que sempre imaginou no seu medo, ao estar só no escuro.
O sapo cantarolou:
— D. Cecé sono não tem, Bem que estou te escutando os pensamentos, rapaz.
Rapaz? Rapaz escapou-lhe no cochicho. Rapaz. Ah sapo!
Lembrou-se: lá uma vez em Cachoeira, ele voltava do campo, o carocinho no ar, e já, ao pé da cerca, tinha um sapo, o olho em cima, a saber o que ia acontecendo dentro do carocinho no giro do faz de conta, as coisas que dali saltavam, tantas que só em Belém cabiam. E aqui estava Belém tão Passagem dos Inocentes.
Quanta falta, mas bem grande, dos dois de Nazaré, daquelezinho Antônio e dela, a Libânia. Pendurou a cabeça fora da ride, espichou-se, pode apanhar os tamancos, foi ao corredor. Ao pé da entrada da sala, a Arlinda dormia. De punho torcido e esfarelando, a ride afundava e Alfredo via lá no fundo, no poço feito de saca de milho, aquele miúdo bicho encolhidinho. Andava no ar a passagem de d. Celeste; a modo de um perfume saía das roupas guardadas na mala, do navio em que ela fugiu, um tão antigo cheiro, mas. de que tempo, quando? onde? Da Valdomira, uma boca da noite no chalé, — deita no meu colo, meu namorado — a cabeça dele no mais macio, todo-todo um maciúme?
Alfredo num sobressalto. Pois ao chegar de Muaná foi recebido por uma dona toda entonada, agora, no correr das noites, a mesma dona a abrir a mala, mirando e revirando os vestidos, e dela a visagem no quintal? Razão tinha o Belerofonte ao ir tirando, um por um, aqueles vestidos da mala?
Então, como se brincasse com Libânia e Antônio, colocando a irmã cega numa ride alta, cochichava: Mostra o que tu sabe, sapo velho, fazedor de artes, desencanta desta palhoça, a casa da d. Cecé. Tira daqui o navio e eu também dentro, a rua, um rio, com correnteza forte nos suma. 158 Vamos nós todos, velho cururu. E também a professora Maria Loureiro Miranda.
Da terceira janela do segundo andar do Grande Hotel, ela podia ver o folharal cobrindo o largo da Pólvora de onde irrompia, pesado e solitário, o Teatro da Paz. Aqui em baixo o terraço dos sorvetes e dos homens de branco ou paletó azul-marinho, calças de flanela, a palhinha nova-nova dos chapéus. E entre eles, muitos, tão entonados, almofadinhas locais, havia um, à mesa do centro, sem paletó, sozinho, defronte de um copo alto — sorvete não era nem refresco nem leite. Gim? — Um louro de tão inocente cor e que lhe falava das manteigas da Europa e das gemadas tão bem batidas pela Divina no Muaná. Meu Deus, aquele no terraço, por certo hóspede, louro e só e seu copo alto. Calor. Veio o garçom com um balde, lhe derramou gelo no copo e o louro o dedo dentro, mexeu, mexeu, um tanto pensativo ou vagaroso no beber. Celeste teve um sobressalto: aquele? Quem sabe não era o piloto do navio inglês que foi uma tarde carregar no Muaná? Pressentia neste dagora aquele de há três anos. O navio carregava. Por uma curiosidade, ela no trapiche, e ele do navio, ambos se encontravam, só os simples olhares, depois adeus, carregou, adeus. Até São Nunca, marinheiro inglês. Semanas passaram, saltou a noticia: o buque afundou-se na Costa Negra. Mais estória que verdade, se dizia que o piloto teria ficado na Caviana, dono de garçais e rebanhos num sem fim de miragem e terror. E será que ele reaparece, a mesma cabeça loura, ali com o seu copo alto? E quis chamar da janela, baixinho: «Oi seu piloto, voltou pra me levar, foi? Pois vamos.» E parecia que entre todos ali o mais bem vestido era ele, a calça caqui, a camisa muito machucada e simples alpercatas, Todo aquele paletozal de casimira, flanela, linho e colarinho virava fantasia roceira, os matutos escaldavam naquele trinque suador, enquanto o louro no meio do terraço, diante do copo alto, na melhor moda estava. Ela, da janela, no te aprecio. Deus! uma coincidência, será o louro do cargueiro inglês? A Caviana, a Costa Negra, devolveram o homem são ou está ali, com a sua calma louca, 159 com as visões do vapor rebentando nos baixios engolido pelas mil bocas da lama entre a danação dos tubarões e lá no longe a luz da Caviana? Lhe deu um repente de atirar no desconhecido, bem na cabeça, a flor que tinha na mão, flor? coitada, flor coisa nenhuma, somente um botão de cera de sua resignada grinalda de casamento, um botão que nem sabia por que seus dedos amassavam com miúda impaciência. Cera. Cera. Em Muaná, as velhas, era só se aborrecerem, diziam: Ara, cera! Depressa se desmanchou a grinalda entre as poucas pessoas presentes ao ato; da família só o Leônidas, e chegando, atrasado, sobrecasaca e leque, o Desembargador Serra e Sousa. Assim, na janela do hotel, vigiava o terraço, e nisto um vento fez voar o lenço caiu bem ao pé daquele sem-paletó lá na cadeira onde o copa que nem um lírio ,alto, estava agora na mão do seu bebedor vagaroso. Logo, sempre com o lírio cheio na mão, vagarosamente espiou correndo as janelas do hotel e parou na terceira; Celeste viu-lhe a gentileza, a altura — conforme viu do marítimo inglês — e viu que ele acenava num cumprimento como dizendo se o lenço, que tinha um C, era da senhora ou coisa semelhante... Sim, respondeu ela a si mesma, tão baixo que nem ela podia escutar, adivinhando ou não naquele homem a lenda ou a verdade que corria pelos mares da Caviana. E saiu da janela. Por que? Por que fugiu, ora esta! Escondeu-se atrás da veneziana. Lenço na mão, copo na outra, o homem tinha o olhar na terceira janela.
Estava só naquela tarde longa. Belém, com sinais de chuva para os lados de Utinga, debaixo das mangueiras e nas redes, cochilando. Agora, atrás da veneziana, Celeste escutava uma cidade sem ruído que fazia, na sesta, a digestão das mangas e do açaí. Entrava pelo quarto, soprado dos sorvetes, no terraço, o hálito dos abricós e do cupuaçu. E o aceno, ou o hálito também? daquele homem. Ali, no segundo andar, nunca estivera tão alto, por cima de coisas, de existências, de Muaná, do baile a bordo, daquele casamento.
Antonino Emiliano, na segunda tarde de hotel, já de maletinha na mão, lhe diz, entreabrindo a porta para sair, 160 que o pai estava mal no sítio. Eu vou, tu ficas, uns dias só. Mal bateu a porta, uma desconhecida pulou de dentro dela, escancarou as venezianas, soltou um ah! ah!, tão alto que a recém-casada se assustou, tapando a boca sem tapar a intima indagação: até que ponto desci? Mas tal indagação desatou-se naquela surpresa por fora: só, só, de repente. ah tão inesperado, santo Deus, pela primeira vez só, não me castigue, Senhora de Nazaré, é ver me sentindo a bordo mas livre e além do labirinto de Breves, já no Solimões. Ouvia um vago ruído no terraço, seguiu-se a música do jantar, que lhe pareceu tão remota mas prometedora, e a luz do Olímpia e o faiscar da lança dos bondes no fio elétrico e uns passos no corredor: ele, de volta? Os passos morreram. Não desceu para jantar, estava farta, um ar, no quarto, bom, amaciava o escurinho que a envolvia e ela aos poucos ia restituindo-se a si mesma. Mas restituir-se não significava voltar à mocinha de Muaná, agora que um marido a tornava senhora e, por quase milagre, a deixava naquele quarto de segundo andar do Grande Hotel. num tal repentino estar só uns dias... sentou-se sufocada. Voltava a olhar com seus olhos, a andar com seus movimentos? Como se até aquela hora desde o baile, viagem, febre, desembarque, casamento, estivesse privada de si mesma. Quis ficar no arejado escurume, a esperar por mais longas noites assim, que lhe fossem comunicando, devagar, que ela casou. Ouvia passos: já, o homem voltando? Quero, ao menos, um fôlego, fazer um juízo desta minha nova condição ou de nova miséria. Mas eivém esta lembrança, saindo de dentro do meus horrores: se aquele das bananeiras, o porco, depois de cevar-se na outra, viesse e batesse ali e a chamasse e insistisse e ela no ódio na fúria de repeli-lo, em vez de pedir socorro, de conservar trancada, abrisse a porta? Ao menos este repouso, este sossego, sem companhia, depois da mais recente prova, dessa primeira punição que lhe impôs o Antonino Emiliano, por sentença do juiz, benção do padre, a prova que passou, dente ferrado, esvaída num silêncio e daí saindo para agora pedir uma feroz castidade dai em diante ou dar-se à toa, à toa. pela total desvalia do que dava, desamorosa para sempre. 161 Ah. Deus foi bom adoecendo aquele velho no sitio, adoeça demorado, prenda o filho por uns dias mais, te cala, pensamento, toda hora, aqui dentro ,esta cascavel desovando? É atrás da veneziana e lá em baixo a aparição: o piloto do cargueiro inglês. Pela primeira vez, deu um sim e da janela, o lenço, sim, era meu, não só o lenço, eu inteira sim, cavalheiro do copo alto, onde está o teu cargueiro? Sobe e me carrega na tua garupa. Ah. Nossa Senhora de Nazaré. de joelho vos peço, atrás desta veneziana veja que triste pecadora. Quem sabe se não tenho ainda de acender uma vela por alma daquele para sempre sumido na Caviana? Foi o marido partir e embarquei no «Trombetas»?
Depois do regresso dos Estreitos, tudo lhe aconteceu numa espécie de morna apatia, levada do cais e atirada numa casa de São Jerônimo, a pontada no fígado, o ouvido zoando, a lâmina de gelo trespassava-lhe o corpo. Até então, até aquela tarde em que ficou só, sentia-se saru. como diziam as velhas de Marajó. Saru, obra de um malefício, um simples mau-olhado, que torna a pessoa imprestável durante um pouco tempo ou muito, e foi imprestável toda e qualquer coisa que apalpe, olhe, deseje, o próprio semelhante que lhe de a mão. Pobre Antonino Emiliano. Saru, é quando o mato empanemou, não dá mais caça, empanemou o cachorro, o caçador, a espingarda. Saru o lago que anzol nenhum puxa mais peixe, saru se diz da mulher prenha e de quem a emprenhou. Ela, prenha, estava? De um bicho a sua prenhez, de quantos nove meses? esqueci os meus panos de lua na beira do rio, por isso a cobra me emprenhou? Prenhez que deixou o navio, o comandante saru. Lá depois se soube, no Solimões, o «Trombetas» no fundo. E saru este casamento. Eu mesma me amaldiçoei? Mas foi o homem dizer eu vou por uns dias então boa viagem, benze-te, benze-te, Celeste, neste momento deu peixe no. lago, caça no mato, baixou a prenhez, não mais saru e lá em baixo o cabeça de gemada bebendo num lírio.
Sim, o homem alto, com timidez, lhe devolveu o lenço, chegando de elevador, bem leve bateu a porta, alto, avermelhado, louro. Lenço na mão, meio aturdida, num querer rir e ficar séria, Celeste ouvia o ruído do elevador levando 162 de volta aquele apressado. Dentro do lenço um cartão, o nome inglês. Não demorou um minuto, de novo o homem na porta do quarto, parecendo mais avermelhado, mais louro, mais alto. E só dizia: Manaus. Manaus. Nada mais senão Manaus? Era o piloto? Era e não era. Tinha a altura, o cabelo, sem o uniforme de bordo; em Muaná a visão foi um pouco de longe, do trapiche para o cargueiro, o homem estava mais no mar que em terra, mais na Inglaterra que no Brasil, um desejado homem na amurada. Aqui, sem nada para lhe devolver, o homem mastigando um «Manaus», «volta», e o seu inglês de cambulhada, já os olhos cochilavam. Ela lhe bateu a porta. Destruiu o cartão. Esperou. O piloto inglês, era? Esperava. Viu o piloto de longe no cargueiro, bem louro, sim, sabia. Do rosto, seus movimentos, não estava mais certa. Há três anos. Três anos em que foi o judeu, foi o padre, baile em cima de baile, a ronda daquele porco das bananeiras. Dele ficou a visão de bordo no rumo da Inglaterra. Mas a Costa Negra abocanhou o buque; a Caviana fisgou o louro pelo cabelo; agora entre os garçais e as onças? Manaus. Também disse: Bocelaine? Da janela, olhou: Estava ele no terraço, o lírio cheio, bebendo apressado. E de pé, desinquieto, um cavalo sem éguas relinchando surdo pelo terraço, agora atrás daquela que boiou das transversais, de chapéu, estalando seda e brincos e pulseiras e colares, entrando ambos no Olímpia. Na mesa do centro o lírio vazio. Por desalento, abandono, deixou cair o lenço, ninguém nem viu, alguém passando pisou. Da janela, esperou a saída do cinema, esperou, esperou. Nisto, é a porta, o Antonino Emiliano.
O mesmo que a recebeu no cais, O mesmo que sem uma palavra lhe apresentou os papéis do casamento e ela, a um gesto dele, assinou e tudo sem uma palavra. Até o enxoval, foi ele. E sem que ela dissesse nem sim nem não chega o dia de ir na Trindade, eles no carro, os padrinhos, os convidados. Nem no juiz sentiu sair de sua boca a palavra, como se fosse ele que a segurasse pelo pescoço, a fizesse mover a cabeça, que nem boneca, para dizer sim. E receba os cumprimentos, corte o bolo na São Jerônimo, 163 bata o retrato de véu e grinalda e entra no carro e tudo nas menores monossílabos. Quando viu, parava no Grande Hotel.
Como foi tudo, quem sou, que fiz, cheguei até aqui por que? Que outra viagem é esta? E tudo só merecia riso, triste pena, a risada de Muaná, a Areinha rindo, O próprio Antonino Emiliano nem a sério a levou. Tal a segurança dele, que tudo fez, por conta e risco, usou de direitos, leis, seu instinto e desejos com uma urgência e talvez com um escárnio! Rancor não via nos olhos dele nem nas mais triviais palavras, e dos silêncios ao pé dela escorria uma boa paciência, o bom empenho, não a levando a sério e ao mesmo tempo o tom prestativo de quem acode a doente, parecendo falar: tinha de te acontecer, menina. A viagem só te tirou foi a meninice, deixaste lá a Celeste solteira, já desembarcaste minha. E assim se apossou dela madrugada a dentro, anos afora e de tudo isso o Belerofonte.
Antonino Emiliano, naturalmente, ela podia supor. guardava a meiga zombaria, a azeda compaixão, a macia vingança? Ou pensou que na namorada perdida restava a herdeira ainda rica? Nele foi um cálculo? Mas não foi depois o testamento da fortuna? Que sobrava? E por que nunca nada lhe perguntou? Por que, sem uma palavra, lhe colocou a grinalda, os botões de laranjeira, e dela dispondo inteiramente na cilada nupcial, nada, nada, lhe falou? Deus, só encontrou a gelada virgindade. Que Celeste ele conheceu? Nem ao menos adivinhou. E ela também de si sabia?
Algumas vezes, no Trombetas», queria o Antonino Emiliano ali presente, que tudo daquele amor contrariado seguisse a bordo, fazendo parte da navegação. E agora do namorado restou o pai de Belerofonte. O filho quem sabe feito pelos homens que amava na sua imaginação e na sua castidade? Podia esse homem ser marido destas três que sou, sem que estas três formem aquela que eu devia ser, se transpusesse os estreitos de Breves, chegasse ao Solimões?
E todos os mimos para o filho eram um disfarce, substituíam a ternura que desejaria ter e não tinha. Todos 164 os mimos tentavam ocultar o risco de perder totalmente o filho ideal que ia-se extinguindo naquele Belerofonte, montado no capadinho do Círio. Era um temor alimentado por uma espécie de inércia que sempre teve em educar o filho, culpada, por isso mesmo, se julgava, cada vez mais responsável pelo monstrinho que dali saía... E o pai, atrás de fretes, transpirando mitologia e cachaça, suando nas rinhas, com um vermelhão na cara, gozando a sangria dos galos. Nem ao menos: que motivo foi? nunca lhe perguntou. Era uma tática de esquecimento, perdão ou indiferença que a ofendia devagarinho, atirava areia dentro dela. Até que ficou o fim, nesta Passagem. E dai a aceitar tudo como uma punição do diabo a quem não se entregou, esquecida de Deus ou este, em combinação com Aquele, mandava que Belero lhe destruísse os vestidos e. . . Peso das culpas no ombro? Dizem os médiuns, os livros da encarnação, o vaivém das almas. E aquela, de seu pai, por onde? Antes de morrer, chega em Belém, descendo da moldura e do cabide, do seu gesso e da beca, e vem e quer dizer algo e não diz, a boca treme, não diz, por dentro um homem a debater-se, por fora sufocado e um gelo a mão que a abençoava.
Sei que esse menino, o Alfredo, está acordado, numa insônia de adivinho. Me imagino na beira da sua rede, querendo conversar, inventar estas e aquelas estórias de bordo...
Pronto, Belerofonte acordou gritando, O seu berro. A sua dor de dente. Gerei de um homem esse filho ou do caitetu que me botou a bordo, me tornou ao cais, me entregou a um marido? Aqui está ele, o rosto envolto num vestido da mala, e dando pontapés, o gritar doido.
— Bochecha de novo, meu filho. Bochecha. Dorme que passa.
O que val é que em junho estou eu em Muaná, entre os meus azulejos. Arlinda aqui de pé? Meu Deus, Belerofonte vai acordar a Inocentes inteira...
— Amanhã, vou mandar benzer teu dente, meu filho. Aqui dentista perto, nem por sonho. Esta Passagem nunca 165 tem um adiantamento. Dorme que passa, Arlinda, te deita. Alfredo! Alfredo! Estás dormindo?
Também só agora explica a si mesma o que até então sentiu absurdo, tão bruscamente sentido quanto inaceitável. Sabe que foi atingida, naquela emboscada das bananeiras, nos seus dois extremos, o do seu amor e respeito à família e a parte mais inconfessável de seu ser. E isso lhe completou a confusão, o desentendimento de si mesma, o estado saru. Na emboscada, depois do primeiro extremo, desatou o outro ao ver o homem, quem, que ali estava. Aquele, precisamente? Aquele, de quem, uma vez, quase se queixou à mãe, pela gentil impertinência, um cerco astucioso, nunca na vista, um homem já de sua idade, casado, se bem que sempre um belo homem... Fosse no arraial, trapiche, baile, encontro de rua, uma vez em Belém, brotava ele com um ar de quem espia a caça, antes de lançar a armadilha. Mas esse homem... Cresce-lhe a preocupação, a repulsa, um começo de rancor, o homem atrás ou diante dela; mas é também uma curiosidade, ou simples querer saber até onde queria chegar o caçador? Saber tudo isso era aceitar, ao menos admitir, a inconveniência? Sabia que ao lhe aumentar o gosto de repelir com um desaforo, uma grosseria (que ele não dava ocasião), sentia-se mais impura; em vez de distanciá-la, a repugnância a levava para mais perto? Ele ao aproximar-se, usava sempre a delicadeza, uma cautela que só ela percebia o avesso. De longe era a exibição de sua estampa, um manhoso e galante passar e repassar entre as moças estas confusas e lisonjeadas, e de repente o olhar, aquele, por cima de todas direito nela. Tudo uma arte, uma astúcia que encobria a outra coisa. Se via naquela finura a intenção grossa. Aquele Coletor federal não tinha lugar no mundo, sempre em trânsito, em eterna transferência, — atrás de que e de quem? — pousando em quase todas as coletorias do Pará e do Amazonas — demorou pouco em Muaná — a arrastar aquela sempre tão mulher do Coletor, muito hábil em se fazer mais mártir 166 e mais digna de pena ao pé do belo homem. Celeste olhava o par e lá estava o caçador na sua mira. Disso ela sabia? Quem lhe avisava claro? O extremo que havia nela, de flirtar o impossível, roçarzinho a aventura, ao pé do arrebatamento e da culpa, por um fio, a brasa nas mãos, mas sem queimar-se nunca, nunca o pé em falso? Dá-se a emboscada e nela violentamente os dois extremos se tocaram, misturaram-se, enganados, traídos.
167
Belerofonte é belo
Belerofonte é belo
Agora, nestes minutos, Belero dorme, possível abrir o livro, tirar uma linha das lições, passar a vista nos problemas da fração trazidas no caderno, tudo isso num vôo. Num ronco surdo gemeu o seu Antonino Emiliano, com um punhal no peito, parecia.
Correu para a cerca da vizinha, no cheiro do mingau de crueira que a D. Romana fazia para os dois filhos: o caldeireiro da Manuel Pedro e a normalista do quinto ano, O primeiro ,num trapo escuro, com o luto da fornalha que lhe tornava o rosto mais defunto, assim saía, um tanto esvaído e por isso obrigado, sob os ralhos da mãe, a tomar antes do café e do mingau uma colher (amargo!), de leite de amapá. A moça, alta, rosto esguio, a voz impaciente. A um ralho da mãe, esta sempre ralhenta, se despedia:
— Ah mamãe ah... benção?
Lá se ia, adernada com os livros, a magreza lisa no surrado e cerzido uniforme azul e branco, bota de três remontes, o chapéu na outra mão, por moda. Alfredo notou que muitos da Inocentes se gabavam daquela normalista local, a única ali que ia ser professora. As cinco divisas da manga promoviam a d. Romana e a filha às mais altas patentes da Passagem. Nos seus bordos à tardinha pela Inocentes, Alfredo também reparou que outros tinham o pé atrás — maliciosidade, inveja, simples bater língua? — sobre o proceder das normalistas. Até que um alto falou, morador da Inocentes, o Cara-Longe, o rosto recuado, todo 168 para trás, nas distâncias da pessoa com quem falava. Lia os jornais, o Velho Testamento, colecionava os almanaques Beltrand, atravessava mercadorias no Ver-o-Peso, benzia unheiro. Debruçado no balcão da esquina. Cara-Longe espalhou: viu um grupo delas, na Santo Antônio numa risadaria geral. Um papel liam, espalmavam o rosto, voltavam a rir, voltavam a ler, a rir de novo, depois rasgaram miudinho, bem miudinho, atirando aquele confete na sarjeta e cada uma apanhou seu bonde. No que deu a curiosidade. a pessoa, ele, Cara-Longe, do seu observatório desceu, pois não foi? recolheu, um a um. juntou, decifrou, leu: mãe de misericórdia, aquilo então escrito, lido, saboreado na mão das que iam educar as crianças? Pois ouçam. Por isso bebia com a maior indignação a sua cachaça. Até a Escola Normal, neste Pará, também na perdição? Já não ouviram falar que a cidade está-se cobrindo de moscas? Que está morrendo criança acima do necessário?
E quando passava, a quintanista, Cara-Longe mexia o ombro como a dizer: «lá vai uma». Alguns, que o escutavam, tinham nos olhos um protesto tímido, outros numa hesitação e o Cara-Longe. a cara em retaguarda, em ar de alerta, empunhava a cachaça em direção da normalista não gesto de quem dizia: lá vai, lá vai, a educação paraense atrás do papelinho sujo. É sair no rumo dela, no rastro da cabra, depois me voltem que eu vos oiço. E baixou brusco o copo vazio no balcão, soltando:
— Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas. Está no Velho. E como pode a normalista ter pegado aquelas cinco divisas, passar assim nos exames, quem que paga? O mano caldeireiro? Aprende é a ser professora do mundo, não de escola. É, ou não é? Do mundo? Alfredo, que tudo escutou, estalou a mão.
Mas era isto, era isto! Isto justamente que queria das professoras, este mundo aqui fora, umas tantas coisas, as criaturas, o carocinho fazendo a geometria e a geografia, o mundo, assim valia a pena, viva a filha da d. Romana, professora do mundo. Professora do mundo? Nisto estava uma sabedoria. O falador ao falar mal falou foi bem. A 169 peçonha lhe escorria dos beiços mas não pegava na inocente. E Alfredo via: alta, com aquela altura de livros que a fazia pensa, a bota alta, a normalista empinava o gogó sobre o palhoçal da Passagem nem bom dia dava, axi que te conheço, daqui não sou, aqui não moro, só durmo, vê lá.
E Alfredo no muito que bem, ora, isto só faz quem pode. E agora corria para a porta. A normalista passava, no que viu ele, cumprimentou.
Voltou: no sem descanso, a Arlinda de cima dum caixão se esticava na pontinha do pé para alcançar a chocolateira na trempe. Escrito uma pessoa de idade ao fazer as coisas. Falar nunca falava? Só uma e outra vez, ligeirinho, cuspia. Amanhecia amarelenta encardida como se tivesse dormido debaixo da terra. Do poço enchendo água, à panela, soprando fogo, era a de sempre, silenciosa-silenciosa, Alfredo não lhe tirava esta palavra, nem do seu sopro no fogão vinha um ruído. Andava que nem uma invisível, pé maneiro ou conduzida pelo seu anjo. .Fosse só ou com o Alfredo ao lado, ou no ralhar fino da patroa debaixo dos berros, pontapés, o pum-pum do Belerofonte, Arlinda nem piscava. Alfredo insistia:
— Mas o sapo da noite te comeu a língua, te costurou a boca? Fizeste promessa?
Mais fácil o «Pégaso» falar, debaixo do Belero, no tome chicote, aquele feito da barba do peixe surubim, cantando nos quartos do bicho. Arlinda, olhos no chão, ou no serviço que fazia a hora e a tempo, passou o café. De repente, pela cerca — Arlinda, Arlinda... — a d. Romana cochichando.
A menina soltou-se, num átimo a cuia na mão, o mingau que a vizinha lhe passava por entre as estacas. Não bebeu, engoliu. ligeiro a cuia na mão da dona que espalhava milho na raiz da mangueira para as criações.
Alfredo colheu o bule pela asa, depressa bebeu o café, trincou o bico do pão, e junta os cadernos, a ouvir, já na sala, a varrição da Arlinda. D. Celeste acordava:
— Mas Arlinda, aquela-menina... essa mala? Tens varrido por baixo? Será que deu... tu não desconfias de cupim? Que tu me de conta dessa mala, criatura!
170 Alfredo, sem uma lição preparada, impacienta-se: e ainda mais essa dona culpando a Arlinda pelo cupim ou pelo aborrecer caseiro da viúva da viagem, de quem sonha na Mac-Donald e acorda na Inocentes, varada de insônias entre a mala aberta e os tajás que ficavam de ronda no jirau. Nem uma lição preparada. Corre a ajudar a menina que arrastava a mala dos vestidos. Cupim. Cupim. Mais cupim que o Belerofonte? Alfredo desiste de ajudar aquela sem-língua e indaga: e cupim não era o que deu nos Menezes, de Cachoeira, nos Alcântaras de Nazaré, nos Coimbras e Oliveiras em Muaná? Arlinda varria por baixo da mala. Nisto, estoura o Belerofonte, de camisão em cima, e abrindo a mala e pulou dentro e saiu com um vestido no cabo da vassoura, saltando pelo quintal, engatou no galho do limoeiro, rasgou, agora em pedaços na vala onde o «Pégaso» fossava.
Embora quisesse se habituar àquilo, um espanto Alfredo sentiu. Ficou a olhar a Arlinda no chão e esta, como se nada tivesse acontecido, espiava por baixo da mala, parecendo indagar: tu então mora aí, cupim? Dentro da mala, revirados, pisados, o monte dos vestidos num cheirume da viagem, da moça que um dia foi, adeus que não era mais, da Valdomira quando visitava o chalé, também cheiravam a baile da Semíramis. No chão, Arlinda não cessava.
— Arlinda, Arlinda... Alfredo segredou, embora atento para os fundos da barraca onde estava mãe e filho e de lá só vinha um grunhir satisfeito do «Pégaso».
— Arlinda, Arlinda — Alfredo tornou a cochichar. Mais fácil era aquela mala responder.
— Bom o mingau? Estava? E aí o cupim, mas deu? Tomara que a d. Romana sempre te passe daquele mingau, não?
Alfredo jogava a sua isca para uma intimidade, que-o-que. o peixe sempre arisco. Com Alfredo ali rente, a silenciosa trabalhava a légua e meia, noutro lado do rio, só-só, ela e Deus. Alfredo catando uma amizade e ela nem te oiço nem te vejo pra mim faz de conta que tu não existe, não gasta teu balde que deste poço água tu não 171 puxa. Ninguém existia para Arlinda? Nem d. Cecé nem Belero nem seu Antonino Emiliano? Só existia verdadeiro era aquele cabelo da mãe encastoado? Daquela abelha o mel, como fazia e onde? O sentido da Arlinda estava nas lonjuras, sedenta de seu rio, e ao pé, pendurado na vara, escorrendo a sua banha na cuia, o boto pescado na véspera. Aqui nesta barraca, presa era, mas se um dia quisesse, quebrava o cadeado, dela nem rastro, que até vinha se parecendo escrito só alma. Assim usava o seu miúdo desprezo, um desprezo cada vez mais sem som dentro do seu ouriço. Atrás dela com tranco, cuspo, mordida. pontapé beliscão vou te meter num saco te atirar na carrocinha dos cachorros, galinha amarrada na cintura da próxima — sapateava o Belerofonte — Arlinda abria a boca, abria? Com aquele não ter língua seu falar era servir. Uma e outra vez, o jeito dum carneirinho a faca no pescoço, leve enrugar de quem vai romper num choro, berro, ira. logo desenrugava, o beicinho mordido, as lágrimas engolidas. Silenciosamente partia-se em três Arlindas, a da d. Cecé, nunca avexada, a do Belero, aos trambulhões e a do seu Antonino Emiliano, a quem trazia as botas.
— Arlinda, Arlinda, querias um vestido desses aí só pra ti, unzinho só? Pra ti? Tira, tira.
De resposta Alfredo viu foi Arlinda voando ao berro do Belero: Café! Cabeça de pipira! Tainha! Diabo na saia! Burra Cega! Madame urubu! Me dá café voando, senão tome malagueta no rabo, voando!
Voando. Alfredo até num Susto com o sumiço dela e já na cozinha a Arlinda ocupava as suas muitas mãos e pés para poder fazer as coisas que Belero berrava, azunhando-lhe o pescoço. Mas dela nem um pio, que fosse um. Num cofre a voz guardava, encastoada entre o cabelo da mãe.
Alfredo, que ia sair, voltou para abelhudar a d. Celeste na cozinha.
Queria ver aquela mãe em semelhante situação, que sempre se repetia, a encantada da mala, a tal que ia na Areinha parecendo dizer: moro na Passagem Mac-Donald e ainda falo do alto do meu sobrado. Vamos ver a 172 vague|ante da noite viajando no «Trombetas», — Alfredo, não achas que o meu filho é belo? Não tem um garbo? Talhado para um oficial de Marinha? Deus me diz que a danação dele, que tem, é sinal de homem, é ou não é? Belo é, sim, que é. é.
Sim, de noite, fechando a mala, a Usina apitando às oito, ela veio, folheou o livro que Alfredo estudava e assim de repente:
— Belerofonte é belo. Ele no sono, que é bom da gente ver, se vê os traços.
Alfredo tirou os olhos do livro e os deixou na d. Celeste. Era uma noite de quarta-feira. A tarde, ela saíra, toda da misteriosa, e por ser sempre na quarta a Passagem se dava conta, choviam os olhares. E agora à noite, ia. vinha, era no espelho, era na janela, vestida de salão, empoada, com um ar de fugitiva e cheirando e a repetir:
— Meu filho é belo. Destino dele é a Marinha, no navio-escola correndo os mares, me mandando retrato e os cartões do vulcão Vesúvio.
Falava do filho como se o tivesse gerado dum capitão de encouraçado inglês que passasse uma noite por Belém. Não dizia nem bonito nem lindo dizia belo. E dizia com voz cheia e doçura.
— Tu não achas, Alfredo? Pena que não haja mais no mundo homens belos.
E Alfredo quis responder: e o meu tio Sebastião? Não é belo porque é preto? A beleza é quando a formiga taoca vem e morde e deixa o imã.
— Muito me custou ter esse meu único, aquele-menino. Que eu te diga, aquele-menino. Me abriram ao meio, a cesariana, beirei a morte, as tamanhas dores, eu em suor em agonia, gritei, Mãe de Deus, desconfio que urrei. Depois a faca. Eu morta-morta. E quando dei por mim, muito depois de horas, horas, horas, e pensei que fossem anos, só sei dizer que me achei vendo lá no braço da enfermeira aquele, mal comparado, aquele Menino Jesus, ah, logo senti... sei lá o que sentia. Leite, quem te disse? Eu tinha? Nem voz. O filho havia me tirado o fôlego, o resto do sangue, até mesmo a sensação de eu estar viva 173 me tirou. E pra falar, pra chorar, cadê? Me sentia oca. aquele-menino. Belerofonte havia me arrancado as entranhas e eu nada mais tinha de mim e só via que tudo era dele. E eu por isso, correu um tempo, ia nascendo de novo dele, do choro alto, dos esperneios, desde gito um demoninho. Foi chegando em casa, o pai, na hora do primeiro banho do Belerofonte em casa, botou o jabutizinho na bacia d’água entre as perninhas da criança, para dar sorte. E agora que Belerofonte está dormindo, fui vê-lo, assim descansado, assim sossegado. descorado um pouco ele me anda, se quisesse ao menos experimentar, ao menos no café, uma colherinha de amapá... qual. É. Belerofonte é belo. Ah, mas Deus não me castigue, não cegue tanto esta coruja. Mal acabou de repetir Belerofonte é belo» correu ao quarto e Alfredo a viu ajoelhada, diante do santo oco, onde guardava a chave da mala.
De que filho ela falava? Daquele que quis ter, não teve, na viagem, de que pai? Alfredo, por um instante, entendia que não era mais do filho que d. Celeste falava, mas dela mesma no meio da sala, metida no mistério da quarta-feira, no espelho, enfiada na janela, à espera de alguém que viesse buscá-la ou querendo ouvir o apito do navio lá no porto, que a esperava. Mas de apito só o Utinga, às nove, apitava.
Queria ver a rainha chamar de belo a quem dava ao porco, todas as manhãs, uma ração de vestido. Tantas vezes tinha visto, sim, mas, depois daquela noite, não: a mãe pareceu ter obtido do filho um juramento de não repetir mais, outro-outro daquela hora em diante. E agora? Me mostra o teu oficial de marinha, mãe gabola, o teu mimi na tina d’água ganhando sorte com o jabutizinho entre as pernas, me diz, mãe da formosura.
Atrás da bananeira são tomé, Belerofonte ria, abafadamente, fazendo as suas necessidades. E nele, um instante só, viu não um menino mas um bicho meio-homem que pulasse rindo do próprio tronco da bananeira. O malino escorrido e escarrado. Inclinada sobre os tajás do jirau, como se os consultasse, d. Cecé deu com o olhar de Alfredo:
174 — Que é? que foi? Quer as ordens pra sair? Pois, não, ice a vela, bom vento te leve. Quer a ordem por escrito?
— Me mandando embora?
— Eu? Se sentiu? Seu cismado!
Sorria, dente ferrado, o olhar reverso, escarnecido na sombra da fumaça, de costas para os tajajeiros que desabotoavam as suas quentes folhas mágicas. Alfredo sentindo no olhar dela estas palavras: Pra-o-que-foi que meti esse aqui dentro, eu não sabia que ia servir de testemunha?
O filho correu a adulá-la, adocicando-se, careteiro, remeloso; ela esquivou-se, fugiu, fechou-se no quarto, e o bicho esgoelando-se, e bate o pé e esmurra a porta trancada, e feito menino o porco atrás. Belerofonte é belo. Alfredo se compadecia e ao mesmo tempo: ela me olhou também como se eu fosse agora o culpado? Os berros na porta, o pé batendo. O pé no «Pégaso» que saiu grunhindo. assustando as galinhas da d. Romana. Belerofonte é belo.
Ao sair, Alfredo deu com a d. Romana na porta vizinha. de preto, « o bom dia» de sua viuvez, a ossuda mão de uns dedos tristes mas obstinados amparando o queixo seco. Ah bem que podia estar contente de ser mãe da normalista, cedo professora, e não. Mãe de caldeireiro, antes era, e assim como se visse o filho se acabando na boca da fornalha.
Belerofonte é belo. Meu filho na fornalha. Alfredo está em Belém, sim, mas na dona Cecé. Três mães, tão de repente juntas e na mesma aflição?
Ao dobrar a esquina, sete e trinta, (na padaria) e lá estava, a disforme coisa, a cabeça na janela. No rumo do Barão, ao Ver-o-Peso ou do colégio perdido, Alfredo sentiu-se em fuga.
Correu para a cerca da vizinha, no cheiro do mingau de crueira que a D. Romana fazia para os dois filhos: o caldeireiro da Manuel Pedro e a normalista do quinto ano, O primeiro ,num trapo escuro, com o luto da fornalha que lhe tornava o rosto mais defunto, assim saía, um tanto esvaído e por isso obrigado, sob os ralhos da mãe, a tomar antes do café e do mingau uma colher (amargo!), de leite de amapá. A moça, alta, rosto esguio, a voz impaciente. A um ralho da mãe, esta sempre ralhenta, se despedia:
— Ah mamãe ah... benção?
Lá se ia, adernada com os livros, a magreza lisa no surrado e cerzido uniforme azul e branco, bota de três remontes, o chapéu na outra mão, por moda. Alfredo notou que muitos da Inocentes se gabavam daquela normalista local, a única ali que ia ser professora. As cinco divisas da manga promoviam a d. Romana e a filha às mais altas patentes da Passagem. Nos seus bordos à tardinha pela Inocentes, Alfredo também reparou que outros tinham o pé atrás — maliciosidade, inveja, simples bater língua? — sobre o proceder das normalistas. Até que um alto falou, morador da Inocentes, o Cara-Longe, o rosto recuado, todo 168 para trás, nas distâncias da pessoa com quem falava. Lia os jornais, o Velho Testamento, colecionava os almanaques Beltrand, atravessava mercadorias no Ver-o-Peso, benzia unheiro. Debruçado no balcão da esquina. Cara-Longe espalhou: viu um grupo delas, na Santo Antônio numa risadaria geral. Um papel liam, espalmavam o rosto, voltavam a rir, voltavam a ler, a rir de novo, depois rasgaram miudinho, bem miudinho, atirando aquele confete na sarjeta e cada uma apanhou seu bonde. No que deu a curiosidade. a pessoa, ele, Cara-Longe, do seu observatório desceu, pois não foi? recolheu, um a um. juntou, decifrou, leu: mãe de misericórdia, aquilo então escrito, lido, saboreado na mão das que iam educar as crianças? Pois ouçam. Por isso bebia com a maior indignação a sua cachaça. Até a Escola Normal, neste Pará, também na perdição? Já não ouviram falar que a cidade está-se cobrindo de moscas? Que está morrendo criança acima do necessário?
E quando passava, a quintanista, Cara-Longe mexia o ombro como a dizer: «lá vai uma». Alguns, que o escutavam, tinham nos olhos um protesto tímido, outros numa hesitação e o Cara-Longe. a cara em retaguarda, em ar de alerta, empunhava a cachaça em direção da normalista não gesto de quem dizia: lá vai, lá vai, a educação paraense atrás do papelinho sujo. É sair no rumo dela, no rastro da cabra, depois me voltem que eu vos oiço. E baixou brusco o copo vazio no balcão, soltando:
— Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas. Está no Velho. E como pode a normalista ter pegado aquelas cinco divisas, passar assim nos exames, quem que paga? O mano caldeireiro? Aprende é a ser professora do mundo, não de escola. É, ou não é? Do mundo? Alfredo, que tudo escutou, estalou a mão.
Mas era isto, era isto! Isto justamente que queria das professoras, este mundo aqui fora, umas tantas coisas, as criaturas, o carocinho fazendo a geometria e a geografia, o mundo, assim valia a pena, viva a filha da d. Romana, professora do mundo. Professora do mundo? Nisto estava uma sabedoria. O falador ao falar mal falou foi bem. A 169 peçonha lhe escorria dos beiços mas não pegava na inocente. E Alfredo via: alta, com aquela altura de livros que a fazia pensa, a bota alta, a normalista empinava o gogó sobre o palhoçal da Passagem nem bom dia dava, axi que te conheço, daqui não sou, aqui não moro, só durmo, vê lá.
E Alfredo no muito que bem, ora, isto só faz quem pode. E agora corria para a porta. A normalista passava, no que viu ele, cumprimentou.
Voltou: no sem descanso, a Arlinda de cima dum caixão se esticava na pontinha do pé para alcançar a chocolateira na trempe. Escrito uma pessoa de idade ao fazer as coisas. Falar nunca falava? Só uma e outra vez, ligeirinho, cuspia. Amanhecia amarelenta encardida como se tivesse dormido debaixo da terra. Do poço enchendo água, à panela, soprando fogo, era a de sempre, silenciosa-silenciosa, Alfredo não lhe tirava esta palavra, nem do seu sopro no fogão vinha um ruído. Andava que nem uma invisível, pé maneiro ou conduzida pelo seu anjo. .Fosse só ou com o Alfredo ao lado, ou no ralhar fino da patroa debaixo dos berros, pontapés, o pum-pum do Belerofonte, Arlinda nem piscava. Alfredo insistia:
— Mas o sapo da noite te comeu a língua, te costurou a boca? Fizeste promessa?
Mais fácil o «Pégaso» falar, debaixo do Belero, no tome chicote, aquele feito da barba do peixe surubim, cantando nos quartos do bicho. Arlinda, olhos no chão, ou no serviço que fazia a hora e a tempo, passou o café. De repente, pela cerca — Arlinda, Arlinda... — a d. Romana cochichando.
A menina soltou-se, num átimo a cuia na mão, o mingau que a vizinha lhe passava por entre as estacas. Não bebeu, engoliu. ligeiro a cuia na mão da dona que espalhava milho na raiz da mangueira para as criações.
Alfredo colheu o bule pela asa, depressa bebeu o café, trincou o bico do pão, e junta os cadernos, a ouvir, já na sala, a varrição da Arlinda. D. Celeste acordava:
— Mas Arlinda, aquela-menina... essa mala? Tens varrido por baixo? Será que deu... tu não desconfias de cupim? Que tu me de conta dessa mala, criatura!
170 Alfredo, sem uma lição preparada, impacienta-se: e ainda mais essa dona culpando a Arlinda pelo cupim ou pelo aborrecer caseiro da viúva da viagem, de quem sonha na Mac-Donald e acorda na Inocentes, varada de insônias entre a mala aberta e os tajás que ficavam de ronda no jirau. Nem uma lição preparada. Corre a ajudar a menina que arrastava a mala dos vestidos. Cupim. Cupim. Mais cupim que o Belerofonte? Alfredo desiste de ajudar aquela sem-língua e indaga: e cupim não era o que deu nos Menezes, de Cachoeira, nos Alcântaras de Nazaré, nos Coimbras e Oliveiras em Muaná? Arlinda varria por baixo da mala. Nisto, estoura o Belerofonte, de camisão em cima, e abrindo a mala e pulou dentro e saiu com um vestido no cabo da vassoura, saltando pelo quintal, engatou no galho do limoeiro, rasgou, agora em pedaços na vala onde o «Pégaso» fossava.
Embora quisesse se habituar àquilo, um espanto Alfredo sentiu. Ficou a olhar a Arlinda no chão e esta, como se nada tivesse acontecido, espiava por baixo da mala, parecendo indagar: tu então mora aí, cupim? Dentro da mala, revirados, pisados, o monte dos vestidos num cheirume da viagem, da moça que um dia foi, adeus que não era mais, da Valdomira quando visitava o chalé, também cheiravam a baile da Semíramis. No chão, Arlinda não cessava.
— Arlinda, Arlinda... Alfredo segredou, embora atento para os fundos da barraca onde estava mãe e filho e de lá só vinha um grunhir satisfeito do «Pégaso».
— Arlinda, Arlinda — Alfredo tornou a cochichar. Mais fácil era aquela mala responder.
— Bom o mingau? Estava? E aí o cupim, mas deu? Tomara que a d. Romana sempre te passe daquele mingau, não?
Alfredo jogava a sua isca para uma intimidade, que-o-que. o peixe sempre arisco. Com Alfredo ali rente, a silenciosa trabalhava a légua e meia, noutro lado do rio, só-só, ela e Deus. Alfredo catando uma amizade e ela nem te oiço nem te vejo pra mim faz de conta que tu não existe, não gasta teu balde que deste poço água tu não 171 puxa. Ninguém existia para Arlinda? Nem d. Cecé nem Belero nem seu Antonino Emiliano? Só existia verdadeiro era aquele cabelo da mãe encastoado? Daquela abelha o mel, como fazia e onde? O sentido da Arlinda estava nas lonjuras, sedenta de seu rio, e ao pé, pendurado na vara, escorrendo a sua banha na cuia, o boto pescado na véspera. Aqui nesta barraca, presa era, mas se um dia quisesse, quebrava o cadeado, dela nem rastro, que até vinha se parecendo escrito só alma. Assim usava o seu miúdo desprezo, um desprezo cada vez mais sem som dentro do seu ouriço. Atrás dela com tranco, cuspo, mordida. pontapé beliscão vou te meter num saco te atirar na carrocinha dos cachorros, galinha amarrada na cintura da próxima — sapateava o Belerofonte — Arlinda abria a boca, abria? Com aquele não ter língua seu falar era servir. Uma e outra vez, o jeito dum carneirinho a faca no pescoço, leve enrugar de quem vai romper num choro, berro, ira. logo desenrugava, o beicinho mordido, as lágrimas engolidas. Silenciosamente partia-se em três Arlindas, a da d. Cecé, nunca avexada, a do Belero, aos trambulhões e a do seu Antonino Emiliano, a quem trazia as botas.
— Arlinda, Arlinda, querias um vestido desses aí só pra ti, unzinho só? Pra ti? Tira, tira.
De resposta Alfredo viu foi Arlinda voando ao berro do Belero: Café! Cabeça de pipira! Tainha! Diabo na saia! Burra Cega! Madame urubu! Me dá café voando, senão tome malagueta no rabo, voando!
Voando. Alfredo até num Susto com o sumiço dela e já na cozinha a Arlinda ocupava as suas muitas mãos e pés para poder fazer as coisas que Belero berrava, azunhando-lhe o pescoço. Mas dela nem um pio, que fosse um. Num cofre a voz guardava, encastoada entre o cabelo da mãe.
Alfredo, que ia sair, voltou para abelhudar a d. Celeste na cozinha.
Queria ver aquela mãe em semelhante situação, que sempre se repetia, a encantada da mala, a tal que ia na Areinha parecendo dizer: moro na Passagem Mac-Donald e ainda falo do alto do meu sobrado. Vamos ver a 172 vague|ante da noite viajando no «Trombetas», — Alfredo, não achas que o meu filho é belo? Não tem um garbo? Talhado para um oficial de Marinha? Deus me diz que a danação dele, que tem, é sinal de homem, é ou não é? Belo é, sim, que é. é.
Sim, de noite, fechando a mala, a Usina apitando às oito, ela veio, folheou o livro que Alfredo estudava e assim de repente:
— Belerofonte é belo. Ele no sono, que é bom da gente ver, se vê os traços.
Alfredo tirou os olhos do livro e os deixou na d. Celeste. Era uma noite de quarta-feira. A tarde, ela saíra, toda da misteriosa, e por ser sempre na quarta a Passagem se dava conta, choviam os olhares. E agora à noite, ia. vinha, era no espelho, era na janela, vestida de salão, empoada, com um ar de fugitiva e cheirando e a repetir:
— Meu filho é belo. Destino dele é a Marinha, no navio-escola correndo os mares, me mandando retrato e os cartões do vulcão Vesúvio.
Falava do filho como se o tivesse gerado dum capitão de encouraçado inglês que passasse uma noite por Belém. Não dizia nem bonito nem lindo dizia belo. E dizia com voz cheia e doçura.
— Tu não achas, Alfredo? Pena que não haja mais no mundo homens belos.
E Alfredo quis responder: e o meu tio Sebastião? Não é belo porque é preto? A beleza é quando a formiga taoca vem e morde e deixa o imã.
— Muito me custou ter esse meu único, aquele-menino. Que eu te diga, aquele-menino. Me abriram ao meio, a cesariana, beirei a morte, as tamanhas dores, eu em suor em agonia, gritei, Mãe de Deus, desconfio que urrei. Depois a faca. Eu morta-morta. E quando dei por mim, muito depois de horas, horas, horas, e pensei que fossem anos, só sei dizer que me achei vendo lá no braço da enfermeira aquele, mal comparado, aquele Menino Jesus, ah, logo senti... sei lá o que sentia. Leite, quem te disse? Eu tinha? Nem voz. O filho havia me tirado o fôlego, o resto do sangue, até mesmo a sensação de eu estar viva 173 me tirou. E pra falar, pra chorar, cadê? Me sentia oca. aquele-menino. Belerofonte havia me arrancado as entranhas e eu nada mais tinha de mim e só via que tudo era dele. E eu por isso, correu um tempo, ia nascendo de novo dele, do choro alto, dos esperneios, desde gito um demoninho. Foi chegando em casa, o pai, na hora do primeiro banho do Belerofonte em casa, botou o jabutizinho na bacia d’água entre as perninhas da criança, para dar sorte. E agora que Belerofonte está dormindo, fui vê-lo, assim descansado, assim sossegado. descorado um pouco ele me anda, se quisesse ao menos experimentar, ao menos no café, uma colherinha de amapá... qual. É. Belerofonte é belo. Ah, mas Deus não me castigue, não cegue tanto esta coruja. Mal acabou de repetir Belerofonte é belo» correu ao quarto e Alfredo a viu ajoelhada, diante do santo oco, onde guardava a chave da mala.
De que filho ela falava? Daquele que quis ter, não teve, na viagem, de que pai? Alfredo, por um instante, entendia que não era mais do filho que d. Celeste falava, mas dela mesma no meio da sala, metida no mistério da quarta-feira, no espelho, enfiada na janela, à espera de alguém que viesse buscá-la ou querendo ouvir o apito do navio lá no porto, que a esperava. Mas de apito só o Utinga, às nove, apitava.
Queria ver a rainha chamar de belo a quem dava ao porco, todas as manhãs, uma ração de vestido. Tantas vezes tinha visto, sim, mas, depois daquela noite, não: a mãe pareceu ter obtido do filho um juramento de não repetir mais, outro-outro daquela hora em diante. E agora? Me mostra o teu oficial de marinha, mãe gabola, o teu mimi na tina d’água ganhando sorte com o jabutizinho entre as pernas, me diz, mãe da formosura.
Atrás da bananeira são tomé, Belerofonte ria, abafadamente, fazendo as suas necessidades. E nele, um instante só, viu não um menino mas um bicho meio-homem que pulasse rindo do próprio tronco da bananeira. O malino escorrido e escarrado. Inclinada sobre os tajás do jirau, como se os consultasse, d. Cecé deu com o olhar de Alfredo:
174 — Que é? que foi? Quer as ordens pra sair? Pois, não, ice a vela, bom vento te leve. Quer a ordem por escrito?
— Me mandando embora?
— Eu? Se sentiu? Seu cismado!
Sorria, dente ferrado, o olhar reverso, escarnecido na sombra da fumaça, de costas para os tajajeiros que desabotoavam as suas quentes folhas mágicas. Alfredo sentindo no olhar dela estas palavras: Pra-o-que-foi que meti esse aqui dentro, eu não sabia que ia servir de testemunha?
O filho correu a adulá-la, adocicando-se, careteiro, remeloso; ela esquivou-se, fugiu, fechou-se no quarto, e o bicho esgoelando-se, e bate o pé e esmurra a porta trancada, e feito menino o porco atrás. Belerofonte é belo. Alfredo se compadecia e ao mesmo tempo: ela me olhou também como se eu fosse agora o culpado? Os berros na porta, o pé batendo. O pé no «Pégaso» que saiu grunhindo. assustando as galinhas da d. Romana. Belerofonte é belo.
Ao sair, Alfredo deu com a d. Romana na porta vizinha. de preto, « o bom dia» de sua viuvez, a ossuda mão de uns dedos tristes mas obstinados amparando o queixo seco. Ah bem que podia estar contente de ser mãe da normalista, cedo professora, e não. Mãe de caldeireiro, antes era, e assim como se visse o filho se acabando na boca da fornalha.
Belerofonte é belo. Meu filho na fornalha. Alfredo está em Belém, sim, mas na dona Cecé. Três mães, tão de repente juntas e na mesma aflição?
Ao dobrar a esquina, sete e trinta, (na padaria) e lá estava, a disforme coisa, a cabeça na janela. No rumo do Barão, ao Ver-o-Peso ou do colégio perdido, Alfredo sentiu-se em fuga.
175
O passeio, a mosca e os anjos
O passeio, a mosca e os anjos
Na taberna da Boca, o Cara-Longe, cotovelos no balcão, o acolheu, familiar:
— Vizinho do 268, meu batuta, o «Zéfiro» como vai?´O «Pégaso», o Belerofonte? E essa garrafa de barbante no gargalo? Cana para a dona da casa misturar as ervas ou abrir o apetite? Me deixa cheirarzinho... oh, não. Querosene. Mas o proprietário do «Zéfiro» ainda acende os seus lustres com querosene? Os fretes da navegação não chegam nem para ligar a luz? Que val que amanhã é quarta-feira. Feriado na Inocentes. Vou contratar banda dos bombeiros. Olhe aqui no calendário desta prateleira, está vendo? Marquei, santifiquei as quartas-feiras de cada mas. Amanhã é dia. O dia. «O Estado» vai soltar o seu foguetão, que foi que não foi, está no placar do jornal, o Café Manduca fervilhando. Vai sair numa carruagem invisível, de pluma e sombrinha, a rainha das nossas palhas. Vai passar a cidade em revista. Vai dar o seu bordo, sim, seu giro pelo Centro. É a sua via amorosa? Cala-te, Sardanapalo. Rendo minhas homenagens à Senhora Quarta-Feira. Outra dose, Aragão. Me deixa aqui conversar baixinho com este meu pinto ainda não calçudo.
Alfredo — embaraçado. nem desenrolhar a garrafa sabia — reparava que o taberneiro fazia sinais ao Cara-Longe para calar-se.
— Aragão, não falo no meio da rua. Converso entre amigos. Sei que metade das saias desta Passagem inventa 176 o diabo desse passeio da quarta-feira. Todas no fundo do quintal, ao pé do poço, na torneira lá na Curuçá, no estender a roupa nas cercas e no pouco capim da Inocentes, assopram: amanhã é o dia. E eu? Caluniei a senhora?
Cara-Longe levanta o copo, um gole só, cuspiu. Em que se fia, em que se fia, para falar assim, sem medo, indagou-se Alfredo. Ou só porque estou ainda desta idade e sabe que não sou um leva-e-traz?
— Por que a Senhora Quarta-Feira não sai a cavalo põe os arreios no «Pégaso», por exemplo? Soou que um oficial da cavalaria, voltando da parada no seu cavalo de malhas brancas, passou pelo 268 e estacou, cumprimentou à senhora na janela. Ah pra que fizeste isso. Bota a culpa na janeleira. As bocas que escutei, os olhos que vi, as mãos emborcando o caldeirão na homenageada!
Pena que a mitologia do marido não traga o «Zéfiro» ate a porta do 268 para embarcar a senhora e levá-la de vela e bijarruna pela cidade, bordejando. Só quero que com as suas velas espante as moscas, impeça as moscas de ocuparem a Inocentes. Olha como elas já estão invadindo... Já basta o que tem e os mosquitos e nós, criaturas, que não sabemos a que viemos.
De novo o copo, Aragão batendo as moscas, Cara-Longe aconcheou a mão ao canto da boca:
— Gente, soa por aí que o forno da Cremação, adeus, se apagou, quebrou, parou de vez, reduzido a ferrugem. Não se tem mais onde incinerar o lixo e os cachorros hidrófobos. Não ouviram que principiou a dar uma moléstia nas crianças que os médicos não sabem? As repartições de Saúde estão reunindo, conferências e mais conferencias. Duas gitinhas na 9 de Janeiro bateram o pacau, o Matias bordejou por lá, meteu o nariz no «quarto», as mães da vizinhança tão alarmadas! Os médicos não sabiam. Aí pros lados da Pedreira, Humaitá ou Lomas Valentinas, já tem havido demais anjo. O lixo se acumula na cidade. As carroças da Limpeza Pública pararam. As moscas baixam. Os anjos sobem. E eu que me apelido de Herodes! Em vez de lixo, as carroças vão carregar curumim para o Santa Isabel. E entre as crianças condenadas, está o filho de Deus?
177 Só agora Alfredo reconhece nessa voz aquela do oco escuro da Inocentes dentro da lama e sob a chuva: Eu Herodes-Sardanapalo! É a lama!
Com zombaria e confidencia, logo num tom de alarmado, o Cara-Longe falava. Alfredo se deu conta: sim, sim, também espiou um «quarto» na D. Romualdo, de três meses o Inocente. E aquele da Oliveira Belo, o caixãozinho azul, alto, de flores, na salinha clara, uma velha ao pé, o cachorro ganindo como se chorasse o anjo. Mas pensou ser o trivial em Belém no que tocava à mortandade de crianças. Não era assim em cachoeira? A lei não entrou no chalé e não tirou de lá a Mariinha? Dois anjos, um pelo rio, outro pelo campo, caminhavam dentro da mãe, agora só no chalé, só. Só? Gorgolejavam as garrafas, cinza e gingibre na cozinha escura, a mãe no rio atrás da sepultura do afogado, onde? Agora, aqui com a sua boca de demonio, o Cara-Longe trombeteia. A Cremação quebrou. As carroças da L. P. não tem mais burro nem cavalo nem aquele búfalo velho que apanhava o lixo da Batista Campos. Das mãos do taberneiro, Cara-Longe apanha a garrafa.
— Vai, meu filho, leva o teu querosene antes que eu beba, faça de minha língua a mecha que ateie fogo palhoçal adentro. Me viro em forno da Cremação. A Nossa Senhora desta Passagem vai chorar novamente. (Em outro tom, ar de escuta). Mas começa mesmo a morrer mais criança? Também lá na Caripunas, seu Lício nos trouxe a novidade. A doença, que os médicos não sabem, davam nas crianças de menos de dois anos. O Intendente avisou que passou a comandar pessoalmente, a grande campanha
desenvolvida com o objetivo de eliminar a praga das moscas... Ora, meu Deus! A grande campanha! São as notas oficiais. Ao mesmo tempo, outra nota oficial declarou que ocorreu em Belém um surto de disenteria bacilar com alta letalidade, atacando, de preferencia, infantes e crianças, subnutridas e desidratadas nos bairros pobres, onda as condições e hábitos de higiene são precários e a educação sanitária é desconhecida... Aqui está no jornal. Mas meu Deus! esses doutores!
E em tom escarnecedor, depois suplicante: Que a senhora Quarta-Feira com as suas mãos espante as moscas, 178 afugente a morte ou faça o Menino Deus fugir em cima do bom burrinho da Curuçá, aquele da vacaria ou, pelo menos ,montado no «Pégaso». Mas qual menino? Quem? Onde? Nem a estréia avisou nem os três magos adoraram? Ninguém? Não há tempo para a fuga. Os soldados de Herodes são milhões, se multiplicam em milhões. O decreto será cumprido. Não há mais Cremação, as carroças da Limpeza se desconjuntaram. Nenhum inocente escapará. Outra dose, Aragão. Desconfio que vem por aí um apocalipse.
Alfredo, espantado, atraído. Seu Lício também? Predizendo calamidades?
— Amanhã rompe aleluia, dia da senhora Quarta-Feira, da rainha das nossas palhas. Ela e a gentil normalista são as fidalgas deste monturo. A pérola vai sair de sua concha. amanhã. Em que outra concha se guarda por umas horas? Algum comandante? Um dentista? O hindu astrólogo do Palácio das Musas na São Mateus? Não sabes, meu anjo? Não, nunca saibas, não. A senhora Quarta-Feira pega o circular externo e volta pelo interno. Faz o seu movimento de translação em torno de um sol que deve estar escondido num gabinete dentário, numa sala de quiromancia, num chato de cortina, reposteiro, penoar e moringa na janela. Ou na igreja de Santana ao confessionário com aquele galante vigário? Ela dá assim um laço em volta da cidade. Pois uma vez desceu no Hidroterápíco na Dois de Dezembro, entra no banho a vapor. Eu no rastro, entrei no sulfuroso, quis varar a seção das mulheres, apanhar aquela Eva no meio do vapor paradisíaco. Saí fedendo a enxofre. Não demorou me veio ela saindo do Éden, um cheiro-cheiroso de todos os cheiros, um folharal, um raizame de cheiros espalhando-se ali em roda do Hidroterápico, pela Dois de Dezembro. Entendeu a astronomia, a hidroterapia e a botânica, meu ilustre aluno do Grupo Escolar Barão do Rio Branco? Tenho uma prima no Barão, conhece a professora Maria Loureiro Miranda? Pois fomos colegas na Escola Normal. Preferi esta cátedra aqui, depois de minhas travessias contra a Recebedoria de Rendas e os fiscais municipais no Ver-o-Peso. Faço as minhas 179 contri|ções benzendo unheiro. Pois bem, o itinerário da passeante eu explico...
Cara-Longe foi riscando a carvão de lenha, no chão batido, o trajeto da passeante. Alfredo quis pisar, apagar, quis repelir bem brabo, fez? Cara-Longe .agachado, traçava o passeio e Alfredo, ávido, incerto, temeroso. E esse primo, de repente, da professora Maria Loureiro Miranda, no mesmo minuto amigo do seu Lício da Mãe Ciana, tanto sabedor dos teus, dos meus segredos quanto o maior espalha-conversa? E do 268, quem lhe vinha contar? Aquele sapo cororó cororó de toda noite lhe trazia os avessos da Senhora Mac-Donald?
Ouviu, viu, calado sempre, como se aceitasse e confirmasse tudo; o Cara-Longe, rastreador da misteriosa, andou em todos os passos dela, fosse aqui, Muaná e no «Trombeta»? Não repeliu o Cara-Longe, por medo? E era de seu dever repelir, não ficar ali um só instante, e ficou até o fim, ao pé do traçado no chão, quase divertido. Usava assim de falsidade com a família que o acolheu? Deixava que se falasse de uma dona, aquela, e inda mais, sobrinha de seu pai, que se ofereceu para hospedá-lo por ver que o pobrezinho não tinha onde em Belém continuar no Barão? Mal com ela pior sem ela. Debaixo daquelas palhas, agüenta Belero, o silêncio da Arlinda, «Pégaso» grunhindo. a deusa na espuma de seu Antonino, e a senhora em ronda dos tajás e da mala dos vestidos, de qualquer forma, estudava, em Belém ficou, sabia curtir. Foi comprar um querosene, dá com o Cara-Longe e deste ouve as boas, sem ao menos soltar um: Fecha o bico, papagaio velho. O benzedor de unheiro e atravessador do Ver-o-Peso, a cabeça em retaguarda, franzia fundo a testa, a boca de mau agouro, o carvão riscando o mapa. Com o seu querosene, tardava o passo. Danado! E não passou o pé em cima daquele mapa. A garrafa parecia mais cheia, mais pesada, temeu que ela fugisse por entre os dedos. Carregou-a pelo barbante. Se estava na Boca aquele assunto da quarta-feira, é que toda a Inocentes já sabia, falava. Que deu no juízo da d. Celeste para só sair na quarta-feira? Variasse os dias, as horas, saísse com o filho, esperasse sair debaixo da chuva, não tinha boa sombrinha? Ou 180 então, antes de pôr o nariz de fora, chegasse perto dele e lhe confiasse: Alfredo, vê lá fora, pra mim, pelos cantos da Inocentes, janela e porta, buraco de cerca, se tem gente espiando, se tem abelhuda me vigiando. Ele é que não ia lhe perguntar nada, o favor fazia e de todo o coração. que ela fosse onde mais lhe apetecesse, ser mãe de Belero fonte merecia até passear muito mais. Mas não! Escolhia sempre a quarta-feira atiçando a abelhudice da Inocentes. e depois... Aqui d’El Rei! Aqui d’El Rei! como dizia o pai. D. Celeste era, sim, demais temente de coisas, de «faz mal, faz mal», «Não presta fazer isso» «não sabemos as coisas». No Espiritismo, ia. Anotava na parede endereço de pajés, crente nos horóscopos. Quarta-feira era obra de uma crença? Conselho das almas? Foi o Hindu do Palácio das Musas? Promessa, penitencia abusão? E lá se vai, na mesma data a d. Celeste saindo na boca do mundo, o prato da quarta-feira. Por toda a parte aquelas línguas lá do terreiro do avo Bibiano, os aleives abriam postemas, adubando a falância com terra de cemitério. Também assim não podiam maldar da mãe quando vinha a Belém, quando viesse vê-lo, sozinha nas lanchas, sozinha nos barcos, dentro do toldo onde na camarinha atrás, dormia o piloto, se deitavam homens? Aquele balcão ali na Boca, com o Cara-Longe, esguichava a peçonha, a légua e meia. Todos fossavam a vida do próximo, do mundo só viam o imundo, em meio de suas risadas de jacurututu.
Alfredo balançava a garrafa, oh! que nojo da metade desta Inocentes. Ali na taberna, bastava meia hora, crescia um ano. Em que se acabava o colégio ao pé da montanha. Dantes, saía bonito-bonito de dentro do coquinho de tucumã, este de mão em mão, alto, lá no alto e hoje, rato comeu. adeus Colégio do São Nunca. Nem um tucumãzeiro já o coquinho do faz-de-conta pode grelar. Ia sabendo, ia sabendo coisas feio, triste, com bem imundície. Feio, triste. imundo, e de tudo isso ia até gostando, apreciava, sim, era culpado? Era o primeiro? Inocente adeus que era, sabia, aquele «nunca saibas» do Cara-Longe era mandando saber depressa, sim. Meio adivinhando ,metia o nariz, afastava as palhas, retirava o argueiro, via, lá dentro era este mundo, o espantalho da esquina, que fim que levou os 161 Alcântaras? O Cara-Longe às voltas com a d. Celeste. Do Hidroterápico via o vapor envolvendo a d. Celeste pelada e, alguém, empregada preta, branca portuguesa, polvilhando de cheiro-cheiroso a que saía do banho. E logo dentro do vapor, tal qual como a viu o menino na Baía do Sol, brotou a professora Maria Loureiro Miranda. Nestas coisas de agora, Alfredo queria também a madrinha-mãe, a d. Inácia Alcântara, atravancando com a sua gordura o trajeto entre o Hidroterápico e a Inocentes.
Pousou a garrafa no chão, riu: ver os três Alcântaras, gordos, juntos, pai, mãe, filha, juntos, em pelo, no vapor do Hidroterápico e o Cara-Longe, depois, com a mangueira de água fria jorrando nas três banhas... Libânia, vem ver, corre, Antônio, isto nem no “Ou vai ou Racha” nem no “Repenico Vobis” do arraial de Nazaré.
Atravessou o pedaço da passagem, um quarteirão-mirim de uns quinze metros que à noite, das onze em diante. virava suspeitoso, um breu de macho-e-fêmea, altas horas. No centro do campinho de futebol, a mangueira mãe. Passou pela Sociedade Jesus, Maria, José, pela igrejinha batista, a tenda espírita, a janela da parteira, o cego no mocho a cada dia mais ceguinho, as barracas de antigos velhos retirantes da seca que a toda hora repetiam: tenho fumo, não. Quero, não. Fico no Pará, não. A sede do clubinho, aqui, dá baile no sábado a mil e quinhentos cada cavalheiro, dama de graça, certas moças locais, (exemplo; a normalista), não iam. Passou a bandeirinha de açaí, a escolhinha particular São Raimundo Nonato de onde saltavam os óculos da caranguejuda e estridente professora, a palmatória na mão, no pescoço o rosário. Alfredo arrepiou-se ao imaginar tremendos óculos em cima da d. Celeste, quarta-feira, amanhã. Esta barraca é a 65, nela a Nossa Senhora da d. Joaquina Gonzaga chorou, contavam, já inteirou um ano, a menina entrevada saltou de sua cadeira viu, correu, chamou, a santa derramava uma lágrima, chorou, chorava, e toda a cidade se rojou aos pés da santa chorando; põe a Inocentes no jornal, nos telegramas, e vem procissões, rezarias, romarias, tal o alumiamento de velas que nem dia de finados, doentes de toda doença se arrastavam e Nossa Senhora de d. 182 Joaquina Gonzaga chorando. Na piedosa aglomeração, entre a enormidade das penitencias e ladainhas, tantos degredados filhos de Eva se lavando nas lágrimas da milagrosa, não faltou o Intruso para estender e atiçar os limites do macho-e-fêmea antes tão encolhido no quarteirão-mirim, rebentou uma briga, rompeu a cavalaria, vieram os bombeiros para apagar um fogo na barraca defronte e nove irmãs desta viraram cinza, o fogo não lavrou mais porque três dias e três noites choveu que choveu, diziam que era a Nossa Senhora chorando. Mas então o Cara-Longe —foi o que se soube depois — entrou pelos fundos da barraca sagrada, se vale do alarido, do reboliço, do incêndio e da chuva, por um repente se esvazia a sala onde a santa chorava, vai, trocou esta por outra igual-igual, roubou a imagem, vai à cidade velha, lhe enxugou as lágrimas, falou: quietinha, por aqui, não se afobe. até que aquele povo passe a loucura. E assim a cidade viu que a santa não chorava mais, o Bispo deu uns conselhos, ninguém deu pela troca das Nossas Senhoras, tão parecidas, tiradas da mesma forma, e a menina entrevada voltouzinho à sua cadeira e o macho-e-fêmea ao seu devido lugar. Usando a sua artimanha, o Cara-Longe, passada a loucura, carregou de volta a Nossa Senhora da d. Joaquina Gonzaga e ficou ela, de olho seco-seco, indiferente à entrevadinha e ao que se passa aqui fora, a não ser quando vem uma boiada do campinho de futebol, a bola roça-lhe a face, roja-se aos pés da santa, ameaçando atirá-la ao chão, quebrá-la, bola dos seiscentos diabos. Essas estórias Alfredo escutou. Cara-Longe contava, mas a Inocentes desmentia, todos sabendo que a imagem nunca saiu do seu lugar, deixou de chorar quando Deus quis. Cara-Longe, assoprador da peste, o que dizia, mentia, era voz geral.
Aqui Alfredo passa rente da janela. Entre as velas acesas a santa da d. Joaquina Gonzaga. Cuidado com a bola, Senhora Mãe de Deus.
O comprador de querosene, neste momento, vem passando pela casa do Agente da Polícia Civil, investigações e capturas. Na janela, cabelo partido ao meio, seríssimo num pijama marrom de alamares, coisa que só ele 183 osten|tava na Inocentes. Do Agente, certa noite de serenata no vizinho; Alfredo ouviu:
— Mandei parar essa arruaça! Represento ou, não a Ordem Pública neste perímetro? Olhem que vou ao Necrotério da Santa Casa, que está aberto, tem defunto e onde tem telefone, e chamo o «violino» que recambiará vocês todos, Faço um auto de apreensão dos instrumentos. Conhecem as posturas? Hei de acabar com desordens na Mac-Donald!
— Mas, seu Nicanor, serenata é desordem? O sr. me conhece, cantamos no maior respeito. Distrair as mágoas não é uma arruaça. Acatamos as posturas, ninguém por perto tem pessoa doente bem enferma nem sequer um anjo. Quem toca e .canta, seu Nicanor, nesta Passagem, faz até urna caridade. Seu Nicanor, conceda, consinta, transija.
A essas últimas palavras, o seu Nicanor deu um tiro para cima, a serenata voou, restou um violão ao pé da vala, Alfredo viu: O Agente Nicanor colheu o violão; deu-lhe uma fúria rompeu as cordas quebrou, pisou levou ao fogo o inocente. De pijama, nos seus alamares como se fosse num uniforme de gala, ali estava um puro Marechal, Que te crie bicho na língua, seu bom palerma, o pé, que quebrou o violão, caia podre. Isso Alfredo murmurou como para se desabafar também contra o Cara-Longe. Nisto apareceu na outra janela o filho do Agente Nicanor, também cabelo ao meio, queixo de cavalo, já de calça comprida apesar dos treze anos. Por ser filho de quem era, não empinava papagaio, jamais gazeteou, ficou de mal com Belerofonte. era escoteiro ,se gabava de nunca ter apedrejado uma mangueira, nunca urinou gostoso ao pé dum poste na rua, assoviar também não. Alfredo passou pelas janelas da Autoridade, investigações e capturas; queria uns marimbondos dentro deste bolso, e bem em cima desses dois soltar os bichinhos, quem que não soltava?
Alfredo ia sabendo, com curiosidade e revolta, que a Passagem, desde o Cara-Longe até a Nossa Senhora da d. Joaquina Gonzaga, se unia toda, taberna da Boca, o futebol, o cego, a parte onde se pecava, religiões, a 184 instru|ção particular. o Ceará na pessoa dos sarapecas, o investigações e capturas, a porta do cacho da banana, conspiravam, assopravam contra o saimento da d. Celeste, sem falhar, na quarta-feira. Aquela casada ia num rumo que decente não era, só podia ser de quem deixou a alma na unha do Cão, risco de fazer a Nossa Senhora, de novo. derramar pela face as suas santas lágrimas. Ou do marido lavar em sangue semelhante passeio? Aqui o Alfredo indagou da garrafa de querosene: e seu Antonino Emiliano? Que idéia tinha dessa quarta-feira? Fingia não saber, ou sabia? Nem ligava? Pelo menos não pedia à mulher que variasse os dias? O tempo inteiro catava fretes para a sua embarcação, rondando o Ver-o-Peso, à espera do «Zéfiro» que nunca chegava? Marido e mulher no 268. Alfredo via, nunca se entendiam não porque andassem batendo boca ou se contrariassem na maior maciez a~ razões dum e doutro. Não se entendiam fingindo-se entenderem-se muito bem, a d. Cecé fazendo a refeição, muito educada, de talher e o marido comendo na panela. Faz mal comer na panela, foi só o que ela disse, uma vez, olhando para Arlinda. Depois, silenciosa ao pé da mala. escutava o marido arrotar sobre o livro da mitologia. Tão bem casados pareciam que se ia logo o mau casamento. Horas, saídas, pensares e obras de d. Cecé? O marido podia dizer: eu sei? E eu quero saber? Seu Antonino Emiliano tinha mais em que pensar. agindo pelas marchantarias ,suplicando frete de gado. pelas casas de comissões e consignações. na Antônio Silva que carregava as embarcações do Arari, Marajoaçu. Muaná. Esperava que o cunhado lhe mandasse dizer a data que vinha, se breou a canoa, como haviam ajustado. Leônidas não sabia que os mares descalafetavam a embarcação?
Sopravam-lhe no Ver-o-Peso que o cunhado, em vez de navegar, embarcar reses ou carga trivial no Alto Arari. Anajás ou Cachoeira, encostava o «Zéfiro» no mangal e logo em terra ia apanhando costuras daqueles sítios, um paletó, dólmã, até vestido de mulher, tendo mesmo colocado debaixo do toldo uma velha singer meio ferro-velho do Itacuã onde consertou, azeitou, mandou buscar lançadeira. A pessoa, que contava, não podia jurar. garantir 185 não garantia, não fosse o seu Antonino mencionar quem contou, pois este, levado a testemunho, diria que não viu nada. O cunhado não queria uma navegação freteira, conforme o compromisso, mas uma alfaiataria ambulante, fluvial, o regatão alfaiate. A Leônidas isso bastava. E sem nenhum zelo pela embarcação alheia. Numa trovoada lá se foi rasgou-se a vela grande, o bastante para o alfaiate atracar a canoa no porto de Santana, remendando horas e horas, dias, o pano avariado. E ao redor do homem — seu Leônidas, me ajeite este botão de paletó, me encolha esta calça comprada no Ver-o-Peso; seu Leônidas, mas me talhezinho esta camisa; seu Leônidas, veja o que o sr. me faz com estes retalhos, olhe que eu gratifico o sr. Em paga, o Leônidas só queria um vinho de cupuaçu adoçado com açúcar moreno de Abaeté, uns ovos de tracajá. o peixe de cacuri na brasa e um dormindinho na camarinha com as não comprometidas, lanceadeiras de igarapé, colhedoras de sementes que dão azeite, andadeiras de beira-rio. roçado e piraquera. Queriam, não era? Havia de enjeitar? Leônidas cobria o seu harém com a vela grande. A vela rompia-se porque o cunhado permitia que o piloto Catumbi metesse a canoa debaixo dos pampeiros da baía, a pique de irem ao fundo nas alturas do Caracará. Isso tudo o seu Antonino explodia na cozinha, primeiro brabo, depois simples queixoso diante de Alfredo. do «Pégaso», da Arlinda que lhe descalçava as botas. D. Cecé recolhida no quarto. Pois nem a metade do ajuste tinha pago. Saldar o resto, em que século? Os fretes escasseando, tudo ia nos ordenados do piloto. dos dois tripulantes, reboque de lancha, retiradas do Leônidas, e o mantimento? E a conservação do «Zéfiro»? As apostas da rinha levavam-lhe o resto; sobrava-lhe a mitologia para conversar com Alfredo. Empenhara tudo no «Zéfiro» e agora precisava reduzir pessoal e sustento de boca, despedir um tripulante, mandar embora o Catumbi, tomar o leme na mão. Também o frete de uma rês àquele preço? A comedoria da viagem era por demais, só o Leônidas em café e açúcar consumia o rancho. Que o cunhado fosse montar a sua alfaiataria no mangue, fincar a singer no jirau: aquele, nem casar soube, jamais quebrou o protocolo do Desembargador, a 186 noiva criando caraca no sofá de mogno. Então, seu Antonino representava, na cozinha, a visita de Leônidas à noiva, A moça, a Amarílis, educada no Colégio de Santa Catarina, era filha adotiva do Desembargador Serra e Sousa, homem de poucas letras jurídicas mas de muita sobrecasaca é leque no Foro e que em sua casa nunca ia à mesa sem gravata e paletó. Quando vinha a Belém, para visitar a noiva, o Leônidas tinha de enfarpelar-se a rigor. A criada, de uniforme, o recebia, ligava o lustre mostrando a pesada sala daquele sobrado que atulhava a esquina da Arcipreste Manoel Teodoro. Alto, gomado da cabeça aos pés, lacônico, o Desembargador sentava na sua cadeira de embalo e abria o leque, a abanar-se. A senhora, chegando, num boa noite, seu Leônidas, e a família? Muita febre por lá?» abatia-se, num surdo alívio, noutra cadeira de embalo, a embalar, a embalar. Descia então a noiva, num passo de retardatária, apertava a mão do noivo, já sentadinha no sofá ao pé de macambúzia estatueta de bronze que era a Justiça. Logo ao embalo das cadeiras e no rumorejo das mariposas em torno do lustre, morriam os assuntos. Enfarpelado, duro na cadeira, lenço na testa e no cangote, o Leônidas tentava colocar bem o seu pronome, falando de Pernambuco, do navio italiano e logo se ia todo o esforço ao embalo das cadeiras e dos fugidios monossílabos da noiva. A criada, de uniforme, trazia o café num xarão austero. O Utinga apitava, já? As nove? Leônidas, perfilando-se, pedia licença. Os três, de pé, recebiam os cumprimentos do noivo que saía. Na rua, sacando paletó e gravata, corria o noivo ao Ver-o-Peso, pulava na proa de uma canoa do Arari, uma duas três talagadas pedia, bebia, sedento. E ao som dum cavaquinho e das velas sobem e descem na doca, o noivo emborcava sobre o rolo dos cabos até raiar. Assim dez anos. Agora o desembargador aposentava, a noiva, engelhando, no mesmo sofá, esperava sentada.
— O Leônidas demora com a «Zéfiro» por lá para não ter de visitar a noiva. Mesmo a sua casimira surrou, puiu, era uma vez. Para aquele protocolo na Arcipreste tem que talhar roupa na Ramos mostrar na luz do lustre o traje a rigor. O «Zéfiro» não rende para tanto vestuário, 187 meni|nos, para esse ofício de noivar com filha de desembargador. Me deixe então de se encarregar da minha simples canoa. Exonere-se. Corte onde quiser. Sustente o protocolo porém fora do «Zéfiro». Monta no «Pégaso», Belerofonte, e me dá cabo da Quimera, rapaz, arre! Pra-que que foi então que te botei o nome e batizei o porco?
Um instante, Alfredo se fechou, crispado, de garra em cima, Seu Antonino falava nos amores do Major Alberto.
— Me orgulho dele. Um tio que soube ter o seus amores. Não digo amor, amores. Amor é coisa escrita em papel, é da filosofia e amores é o que é misturado com o suor do corpo, com o bom e mau cheiro e os azedos do mundo. Branco com preta, não desfazendo da Amélia, uma especial criatura, não pode ser nunca amor mas amores. A raça africana tem fama de pecadora da carne, por isso é pura. Mas nós, os brancos degeneramos. Tua mãe é pura. E quando dei esse nome ao meu filho foi, pelo menos ,para que eu pensasse que havia de vencer o monstro que nasceu nele, anda nas almas, aquilo que atiça o juízo das mulheres brancas sempre de corpo frio, uma alma de fogo e o corpo de gelo. O monstro nos empobreceu, nos separou, o homem afogado nos fracassos, a mulher metida em paixões que só dão cinza. É do geral que falo e muito em particular dos meus parentes brancos. Mas, a tua mãe é pura. Teu tio Sebastião é puro. E eu sei, eu soube, ele vai cruzar o sangue com a espanhola, se já não cruzou.
Alfredo queria apanhar naquelas palavras explicações, enigmas. Não entendia. Seu Antonino gracejava? Ria, entortava o pescoço, ora de esguelha para o corredor e para a rua, dando guinadas de corpo.
— Sei que o teu tio já vai pela casa dos vinte filhos espalhados do Juruá ao Arari em tão pouca idade. A raça negra redimirá. Vês o Leônidas? Fez do «Zéfiro» a nau imunda, é o corsário femeeiro do Arari, apanhando as cunhatãs na beirada. Mas nem um filho. Lhe falta adubo e pureza. E isso até que a noiva expire. Não tem geração. O Major, sim, adubou-se na África. E foi bom. 188 E tua mãe te pariu e aqui estás, que a tua tribo tenha o favor da multiplicação. A nossa? Achas que Belerofonte vai matar a Quimera? Comeremos o «Pégaso» de forno no dia do Círio. Preciso agora danar-me para a Costa Negra. Por lá tem ouro, diamantes, contrabandos, as catástrofes, até a morte, se for necessário, a morte dentro da lama, tem D. Cecé terá uma coroa de diamantes. Talvez ache uma pepita suficiente para mandar o Belerofonte estudar na Inglaterra como os Chermonts estudaram, os Mirandas, onde aquele Edmundo Menezes estudou para vir sumir montado num búfalo dentro da lama... Preciso tirar o galeão das mãos do alfaiate. Meu filho, meu parente, a África salvou teu pai, e espero garimpar uma negra da Guiana, será a Cassandra, a Cassandra...
Mas Alfredo não compreendia. Por que o seu Antonino Emiliano nenhum tento dava ao passeio da quarta-feira? Casou com a d. Celeste depois daquela viagem no «Trombetas», por que? Então sonhou para o «Zéfiro» fretes mágicos que pudessem trazer vestidos, leques e sapatos àquela esquecida sob as tristes palhas do 268. Dias atrás ouviu-a cantando. Não essas modinhas mas partes da Viúva Alegre. Árias, como explicou. Árias. Lembrava o gramofone do padrinho Barbosa. Em pedaços de árias cantarolou baixo:
— Quero ir em junho. Muaná vai me ver em junho. Ainda conto com um bom frete do «Zéfiro» para fazer uns reparos no sobrado.
Fez-se séria:
— É. É o que ainda me resta. Sempre tenho ali um sossego, onde passar as férias. Esqueço o mundo. esqueço isto. Morrerei ali em meio dos meus azulejos. E deles quero um ou dois para ornar a minha sepultura.
Nesta noite, depois do Utinga apitar, mais que de repente — o filho dormindo, o marido atrás de fretes no Curro — puxou Alfredo do sono e intimou um «vamos», «vamos», um «vamos» que a Alfredo parecia a repetição da fuga a bordo. Descem no largo da Pólvora, tinha um baile na Assembléia. D. Celeste pousou o braço no ombro 189 do acompanhante, e ficou, anônima, no meio do sereno que se comprimia na calçada. Que provação, essa da d. Celeste? indagou Alfredo. D. Celeste falava nos espíritos, na expiação das culpas, nos livros ocultistas, sobre a vaidade do mundo, tudo, tudo pura vaidade, somos um puro pó. Era provação estar ali, por não poder ir ao baile ou a rir daquele pó que ali reluzia e valsava? A festa da Assembléia o Alfredo quase não serenou. Serenou foi o baile dentro dos olhos de sua dama, o baile em que ela se vestia com todos aqueles vestidos e dançava com todos aqueles cavalheiros no sobrado de azulejos. Vendo-a na luz que vinha do baile verdadeiro, era no outro, sempre a bordo, que estava a d. Celeste.
No amanhecer da quarta-feira, Alfredo folheava a Paulino de Brito, já sabendo que a Arlinda entre as estacas bebia o caribé da d. Romana. Não quis ver o cada vez mais pálido caldeireiro sair nem a magra e altiva normalista para ganhar um cumprimento. Seu pensar estava no passeio, à tarde, da senhora Quarta-Feira. Nisto, a mão no ombro.
— Espantou-se, meu sempre espantadinho? Vou bater perna cedo atrás de frete. Tu, tu, que adivinhas, me dá o paradeiro do «Zéfiro. Que diz tua pitonisa?
Seu Antonino. migou tabaco, enrolou quatro cigarros, acendeu um, enfiou-se nas calças de bainha enlameada, espiando pela porta entreaberta do quarto.
— A bela e a fera dormem.
Falou baixinho. Alfredo via-lhe o paletó na mão, puído, desbotado. O colarinho da camisa — sem abotoadura os punhos — esfiapava, com a torta borboleta de elástico, muito ruça.
Alfredo seguiu-o até a cozinha onde, já de paletó, seu Antonino passou a afiar a navalha de barba, a afiar, com vagarosa delícia até que o fio da navalha pudesse ranger menos no queixo eriçado. E com isso ia também afiando a conversa cochichada, a pedir silêncio para aquela adormecida no quarto. Alfredo sentia-se crescido com as 190 confi|dências. Seu Antonino lhe falava de igual para igual. Sim. que de vez em quando, o dono da casa entremeava «és uma criança ainda para compreender diversas coisas», «fedes a cueiro, curumim», «não te gaba de eu estar te falando assim, hein? Olha a liberdade, te aparo as asinhas.» Alfredo, ofendido, divertido,. Aquele elástico no colarinho que nem forca, os velhos suspensórios arriados debaixo do paletó sem um botão, a navalha rangendo no rosto empinado de quem falava nas façanhas de Hércules como se fossem suas, fazia Alfredo rir. O barbeiro espalhava espuma pela cozinha toda. Muda, também com um bigode de espuma, Arlinda fazia fogo. Ouvia-se o «Benção, mamãe?» da normalista saindo.
— ... fundeou a alfaiataria veleira ao pé das pedras do Moirim para costurar ao som da pororoca que ali nasce. ali estoura no rumo de cima. Mas os três pretinhos da pororoca se mudaram, não tem mais pororoca no Arari. Vai encalhar para sempre naquele mangue, com o alfaiate costurando para as ciganas?
Atirou novamente espuma na cara de Alfredo, mandou a Arlinda limpar-lhe as botas, cuspiu, distraído, sobre os tajás sagrados.
— Eu me privo de tomar providência mais por causa da Celeste. É o irmão dela. Mas por tudo isso, parente, não tive que vender os primeiros azulejos do sobrado dela. em Muaná? É. Tive. E dizer, parente, que tenho que desarmar o casarão todo! Só a telha, sim, dá sempre uns bagarotes. Que azulejos! O «Zéfiro» é prejuízo em cima de prejuízo. Nunca chega a tempo. A última viagem os oito boiecos que carregou pro Curro, num tal estado chegaram... Posso assim conseguir fretes? Tenho culpa que o Leônidas não possa ou não queira ver a noiva? E o nosso de-comer? Não é com os trinta mensais que a tua mãe te manda que esta casa se sustenta. Resultado: vendo os azulejos, desmancho o sobrado. Doer me dói, sim, mas que remédio. Celeste, Deus me livre, não sabe nem vai saber. A ti te digo mas sabes que eu não te disse, não ouviste. Lacremos o segredo. Vou fazer tudo para ela não ir em junho. Nem dezembro. Passamos a comer de 191 azulejos, parente. Bem, vou acabar de gastar a sola desta bota atrás de frete. Arlinda, minha sem língua, fizeste ao menos o café? Pode ser que o Leônidas me traga a canoa antes do fim do mês. Mas qual! Queres fazer balão da espuma? É uma coisa que eu gosto, a espuma, fazer muita, gosto. Queres?
Alfredo abriu a gramática. Lá, naquele sobrado de azulejo, era a antiga família Oliveira que d. Celeste gostava de representar nas festas de dezembro. Os Oliveiras espalharam-se no mundo. O Juiz, um dia, deu o trinta-e-um num repente. D. Teodora, esta, sem mais nunca abençoar a filha que fugiu a bordo, enfurnou-se em Marabá, atrás das cachoeiras, em casa da filha mais nova, casada com um comerciante. Das outras irmãs, nem notícia. Ali no sobrado de azulejos, sou a última Oliveira. Uma das três Celestes que sou. E foi preciso fugir a bordo para conservar o nome.
Nem um só nem na sua sepultura, d. Celeste. Alfredo, adeus estudo. Esta gramática entre a d. Celeste e o marido, como entender, como estudar? Hei de passar raspando quatro na composição de sábado. Um ou dois azulejos na sepultura. Aqui o filho lhe destrói os vestidos e lá, o marido, lhe desmancha o sobrado. Ao menos um, Belerofonte, um vestido com que ela possa ser enterrada. Ao menos um, seu Antonino, um azulejo para a sepultura. E este, o seu Antonino, a fazer espuma, ia assim tão afoito em busca de fretes? É que bem cedo lhe chegavam visitas cobrando velhas dívidas. Uma e outra vez, quando não podia escapulir, estourava discussão na porta. Dedo no lábio, pedindo para não fazer bulha a uma doente no quarto, o dono da casa levava o credor ao meio da rua ou fundo do quintal para tudo serenar em longas explicações sobre as oscilações do câmbio, a mitologia, o esoterismo, o Allan Kardec. Na última vez, amansou o credor com a ferocidade do homem encarnada nas rinhas:
Aqueles galos brigando? Naquela fúria e sangue se encarnam lutas de religiões, paixões de povos inteiros, morticínios, os assírios e babilônios guerreando pela 192 eter|nidade afora. Naquele mouro, de formidável esporão, do seu Epaminondas, por exemplo? Está ou não está o Nabucodonosor?
Então na tarde de quarta-feira, foi a d. Celeste saindo e Alfredo atrás.
Assim saíram pela esquina do Espantalho, e este cravou em ambos um olhar que os fez se estremecerem. Desembocaram na Santa Luzia. Assustado, ansioso, arrependido, Alfredo teimava ir. Cometia crime? Ia rastejar uma inocente, vestia-se na pele do Cara-Longe? Proeza era, uma arte, aquela de seguir na maré a d. Celeste para os riscos da cidade. Será no mapa traçado a carvão pelo Cara-Longe?
Sim, sim, queria tirar a limpo. Aonde ia a dona, meu Santo Antônio de Lisboa? Ela saía sem escândalo, como se não soubesse o quanto estava sendo espiada, cortadinha em miúdo pelos olhares e bocas embuçadas da Passagem, e aqui seguida ,passo a passo, por um zinho ingrato falso espião. ou não era? Não seguia por bem? Seguia, sim. para provar depois na taberna da Boca: não era o que pensavam da d. Celeste, estava inocente-inocente. Havia de escrever a carvão de porta em porta, no tronco da mangueira no meio do futebol, na igreja batista, entre as médiuns da tenda, na testa do agente Nicanor, diante dos óculos da professora: inocente-inocente. E que Nossa Senhora era aquela, da barraca da d. Joaquina Gonzaga, que não punha um cobro na tamanha maldade levantada contra o passeio alheio?
Precisava provar, precisava seguir, tirar a limpo, perdoe. sim, d. Cecé, é por seu bem que ia assim lhe seguindo em segredo, na tocaia, não é de seu gênio semelhante proceder mas é preciso, é preciso. Nem sabe nem avalia o que estão falando da senhora ali defronte, ao pé, em roda, longe e perto, assanhando o formigueiro.
E ela saía sem escândalo, sem remelexos, um natural de quem ia em tão boa consciência. Uma certa pressa lhe deu a certa altura, um. ar de que fugia ao mesmo 193 tempo um ar feliz que a Alfredo embaraçava e encantava. Não lhe ardem as orelhas, d. Celeste, as costas não lhe doem com o sopro que vem das bocas da Passagem, não sentiu na cabeça, na sua nuca, o olhar que lhe disparou a Inocentes?
Apanhou o Circular, Alfredo também, em pé, atrás, O elétrico fugiu pela Dois de Dezembro, (justamente como riscou o Cara-Longe), depressa pelo Hidroterápico, o largo de Nazaré, o Barão, dobrou a Gentil, ladeou o Soledade, varando por entre as velhas palmeiras da 16 de Novembro. Na estação de Belém, um trem chegava, esfalfado.
Saltou no largo do Palácio, um pouco indecisa, vagarosa, lhe doía o sapato ou o receio? Chegando cedo ao encontro? Ou tarde? Inocente-inocente? Doutro lado, na porta da garapeira onde tomou um caldo, Alfredo espionava: D. Celeste, hoje não, que eu posso saber. Vou saber? Queria levar dali todas as razões e provas para entrar na taberna da Boca e gritar: Tome, seu Cara-Longe, leve na tromba para não levantar aleive das pessoas inocentes. E arrojava-lhe um gato morto. A mãe, no chalé, aprovaria. Aqui é com gato morto, podre, como se brinca em quarto de defunto, mas gato morto de verdade, podre. Não me deixe saber, d. Celeste.
Mas ali na parada, olhando para as folhagens do largo do Palácio? Ou já adivinhou que alguém a segue e, por isso, se diverte? Alfredo, despaciente, outro caldo pediu, e com ele os dois tostões da passagem de volta. Tinha que encontrar pelas imediações da Santa Casa e do mercadinho da Santa Luzia o gato morto. Sim, apostava com o Cara-Longe, com a própria dúvida e sua curiosidade... Que procura na bolsa? Olhou para a garapeira. te esconde, espião. Não te envergonha, espião, espiar? Não dói? Mormente agora que ela está, parece, mais sozinha, no ponto do bonde: os dois pareciam sozinhos na rua deserta, caminhando numa cidade evacuada, ela sem ver ninguém e ele só vendo a ela. Ancorada no largo do Palácio, d. Cecé dá um ar de quem diz: de mim aqui todos podem dizer: essa mora na Passagem Mac-Donald.
194 Era sua culpa, ou sorte, que ela estivesse praticando o que se maldava na Inocentes? Mas fizesse, fizesse, contando que fosse um instantinho feliz, se aliviando do filho, do marido, do «Pégaso», dos tajás, dos vestidos, de si mesma. Não sou eu quem te julga, joguem a primeira pedra, dizia o pai. Mas é Deus que leva ela ou o Diabo, ou ambos? Por outro lado, queria dizer dela: Na Passagem, por essa, ponho a mão no fogo.
A mão no fogo?
E fogo não é o que se ateou na passante, a tocha por dentro, a arder pela cidade? Queimou caturra no chalé, queimou aquela borboleta e por brincar com fogo, se não urinou na rede, fez Maninha se queimar e quem sabe se o fogo não influiu na morte da irmã? Agora a mão no fogo pela d. Celeste, no próprio fogo que é aquele passear? Até onde era direita a d. Celeste? Direita ou esquerda, não era ela, ali contente? Aos outros que mal fazia? Celeste, no ponto parecia escolher um caminho. Ou a espera do vento que lhe acende as brasas?
Alfredo rodeou, veio, atreveu-se, colocou-se bem atrás dela. D. Celeste semelhava aquela senhora de aliança que telefonava na padaria tão bonita e tão proibido? D. Celeste esperava? Ou no simples gosto de dizer: aqui respiro, acendo as minhas achas no ar, só-só, a senhora dos azulejos, a moça do «Trombetas»? Qual a cruz que carregava? Ninguém chegava? Ninguém a cumprimentava. Para ela vazia estava a rua ou vazios os seus olhos? Em vez de fogo, era gelo que ali queimava?
Pôs-se em marcha, mas ia aonde? O mapa do Cara-Longe, até aqui, exato, o miserável. (Mas não escaparás do gato morto). Por que não vai ela na Arcipreste, consolar a noiva do irmão, invejar o lustre do Desembargador? O certo é que a noiva nunca visitava a futura cunhada, futura até quando? D. Cecé enchia a boca de ter um irmão noivo da filha adotiva, única, do Desembargador Serra e Sousa e nunca ia visitar a noiva. Vá, visite a noiva perpétua, tire a moça do sofá de mogno e traga a educada no Colégio de Santa Catarina para dar um bordo pela Inocentes, o Belerofonte a pregar-lhe um rabo atrás, a 195 suspender-|lhe as saias... Ou tome o «Batista Campos» e vamos juntos olhar o parque, fanado parque, a estatuazinha nua que os passarinhos sujavam engraçado, vamos ouvir o que nos conta do antigo senador Lemos, do Governador Augusto Montenegro, se conheceu um dia a d. Inácia Alcântara. Entre, antes, nessa sapataria, mande arriar as mil caixas. experimente como senhora Mac-Donald. desespere os caixeiros, também confusos com o pé nu e insatisfeito. E eivém ela. Aí nessa farmácia compre veneno para o Belerofonte. Belerofonte é belo. Parece que está vai-não-vai para a Cidade Velha, tomará o «Bagé» que só vem de hora em hora; vá enfiar-se pelas velhas igrejas, sobradões, fazendo os seminaristas saltarem os olhos pelas grades das janelas. Chegue ao Porto do Sal, também no Porto do Sal encostam os navios da lama. Arsenal de Marinha, ali os oficiais lhe falarão do Vesúvio, Belerofonte é belo, debaixo daquele azul telhado de sol e nuvem. De repente, na esquina da João Alfredo, d. Cecé apanha um «Curro» bagageiro, Alfredo sem passagem, morcegando pelos balaustres, deixa este, alcança aquele, bondes correndo, o «Curro» lá na frente, e sempre mais na frente, alcançar, quem disse? Aquele desembestado! ah! ter uma arte aqui no estribo, um salto mágico... mas o condutor lhe piscou o olho, camarada, aqui ajuda a lavadeira a embarcar o saco de carvão, e chega no Reduto onde a d. Celeste, ora, graças, saltou. Vai na Madame Yara? Quereis fazer voltar à vossa companhia alguém que se tenha separado? Destruir algum malefício? Alcançar prosperidade? Curar vício de embriaguez de alguma pessoa? Alfredo mordeu o beiço, lançou fora o papelinho.
D. Celeste olhava na vitrina as ferragens do armazém, ou no vidro quase espelho se indagava: vou bonita? Vá, entre e encomende, por conta dos fretes do «Zéfiro» a placa «Passagem Mac-Donald». Parou, entendida em tábuas e vigas, olhou-que-olhou a estância de madeira, o tabuame, as serras serrando alto. Escolha a madeira para a sua casa de platibanda na Mac-Donald. Vá ver que ela entra no Íris, não, sessão só à noite, os cartazes, «O Homem-Leão» 3/4 episódios. Que porta vai abrir? Tem chave? E em casa, onde guarda a chave? A Quimera, de quem fala o 196 seu Antonino (Mata a Quimera, Belerofonte!), d. Cecé levava debaixo da saia? Parou na porta da chapeleira.
D. Celeste, uma e outra vez, saía de chapéu mas o seu menos velho cobriu a cabeça do «Pégaso», foi no cabo de vassoura, levado pelo Belerofonte para o fundo do quintal. Tinha uma pluma. Belerofonte é belo. Alfredo um minutinho se diverte. D. Celeste olhando na vitrina os chapéus. Uma noite, ela falou: gostava agora de botar um chapéu de aba bem larga, branco, que me fizesse sumir um pouco o rosto... A bordo, Alfredo ouviu de boca do Leônidas que o seu Antonino matou muita garça na antiga posse da mulher, e onças de pluma vendeu aos franceses, a bem alto preço a onça. Esse garçal era então um dos cuidados da d. Cecé: ah no Valha-me-Deus tem um garçal que só os anjos no paraíso. Ninguém me toque numa garça. Quando tiveram de entregar a posse aos credores, a pena da d. Cecé era de ter perdido o garçal. Daquela matança o marido nunca lhe informou. E de todo o garçal trouxe uma pluma para o chapéu da mulher, o dito que ornou a cabeça do porco. Antes de perder a posse, já não tinha uma só garça voando, uma que fosse. Ah, não, minto, restava, sim, aquela, que ali vai, sozinha e já sem pluma. D. Celeste defronta-se com a placa do dentista, formado em prótese nos Estados Unidos da América do Norte, o Dr. Riek. Dentista, soprou o Cara-Longe. Mas a passeante, neste minuto, passa por baixo das janelas da família Arcoverde onde, exatamente, debruçadas nas almofadas, com seus penteados e leques, suas pinturas e pulseiras, uma em cada janela, se encaixavam na moldura as três moças da família, donzelas de sua idades, louras de oxigênio. Durante o dia trabalhavam aquela toi!ete para estarem ali, na hora exata da tarde, a ver passar o bonde, o bonde olhando as três, Alfredo, de olho naquelas atrizes de janela, quase ia perdendo o rumo da sua caça. A errante entrou pela Piedade, desemboca na 15 de Agosto, some-se pela Manoel Barata, boiou nos Correios. Que se desatou nela que parece mais despachada, mais ligeira? Está no guichê do Posta Restante, Alfredo atento. Um mulato de óculos, mangas de camisa, vozeirão, troou um «não, não, não tem, minha senhora», depois 197 de suada e ruidosa busca pelos maços. Alfredo, estremecendo, escondeu-se entre uns sacos postais. D. Cecé fugiu ao vozeirão que lhe troava sempre «não, não, não tem, minha senhora».
Aqui fora, Alfredo notou em d. Celeste algo que o fez compadecido, confuso, culpado. Cara-Longe havia de receber pela verônica o gato morto. Desanimava um pouco seguir atrás de uma garça sem lago nem ao menos a lagoinha, aquela, que o sol secava em Cachoeira com a misteriosa mãe, a tartaruga, guardando o olho d’água. Por que seguir um tal passeio até agora na maior inocência? E o Posta Restante, de quem a carta que procurava? Eivém ela, desce a rampa da Quinze, rumo do Ver-o-Peso? Não, não, o Cais. Vai entrar primeiro na Alfândega? Meu Deus, o seu Virgílio Alcântara, na capatazia, a esta hora embrulha o jabá e o toucinho nos Diários Oficiais da União. Ao peso dos pelos sinais, terços e citações de Job, assenta-se o Porteiro, o sr. Albuquerque, sem saber o que mais ostentar, se a sua devoção, a autoridade ou o bem aparado bigode federal. Bastava um passo e Alfredo estaria com o seu padrinhorana, a saber da família. Ou vivia só, o gordo, num quartinho de fumo do Palácio das Musas, com o pesadelo daquele pardieiro na Estrada de Nazaré em cima de sua cacunda? Sim, sempre ganha a sua cacunda quem perde mulher, filho e para sempre a serra de Guaramiranga. Devia rondar o 160 ria Gentil, suspirando pelos domingos da mesa feita pela madrinha mãe, ah! mão de vaca ah! simples feijão com arroz e jabá gordo, madrinha mãe dos diabos. Graça era se a d. Celeste, conhecendo o seu Alcântara, fosse lá conversar, ali sentada sob a fala mansa do devoto e as mesuras do pelintra, e o gordo, este, de repente feliz porque na capatazia a d. Celeste fez aquele buraco de convento respirar Guaramiranga. Mas a d. Celeste não tem pena do velho, como eu, que não entro, duas vezes ingrato... receio indagar, ver que até a gordura, o velho perdeu; por onde a mãe e a filha andam? Ou saiu, de vez, para sempre, aquele santo cevado, da capatazia, demitido como um ladrão? D. Celeste vai direito ao cais. O «Trombetas» ela mandou contratar? É, contratou com 198 os bichos do fundo, ela sabe que anos o «Trombetas» navega mas debaixo das águas no Solimões.
Varou o portão do armazém n. 5, navio encostado, o «Monte Moreno». D. Celeste erra um pouco pela borda do cais, a ninguém se dirige, não vê ninguém a cega passeante. Abaixou-se a brincar com o gato branco-encardido como se estivesse achando enfim o que tanto procurava, um gato, este vivinho, não aquele no nariz do Cara-Longe. Mas foge-lhe das mãos o gato, esconde-se atrás de uns barris. Ela, embaraçada, mira os lados, agora fixa no rebocador «Conqueror» que ao largo passava a toda. «Conqueror»! Alfredo invejava. Ah ele ali dentro, mesmo na boca da fornalha, ao pé da chaminé, aquela, enorme para tão pouco tamanho do buque. Oh! hélice cavando as águas, estas de barro escumando, e poucas horas depois o «Conqueror» seria visto no balanço do mar alto, por Salinas, apitando para a barca-farol de Bragança, esta de velas altas, entre os biguanes, sossegados navios do oceano. Conqueror. Conqueror. Teu nome soou, uma noite, mágico, na varanda do chalé, saiu da boca do pai a falar dos rebocadores da barra. Conqueror. Era também parte do colégio, fundeava no carocinho de tucumã, Conqueror na valinha da rua, ao encontro dos peixes no rio, rebocando o velho jacaré. Conqueror para rebocar o chalé, rio abaixo, atravessando a baía, içá-lo até a montanha onde as janelas do colégio chamavam, chamavam... Grosso o fumo, a espuma que revolve, grosso bigode da frente, chato, pintado de chumbo, arrogante a chaminé, vem, joga o cabo, puxa daqui estazinha d. Cecé, tão leve de se puxar, de desencalhar, iça a dona para a barca-farol, faz parar o grande navio no meio do mar, e continência que vai entrando a bordo, debaixo das plumas, a senhora Mac-Donald. Na beira do cais, a d. Celeste espera, quem era o marinheiro? Olha, olha, mas olha, de olhar não se cansa nunca, seus olhos navegam mais que os navios. O banzeiro do «Conqueror» o Cais recebeu e parece espirrar alguma espuma nos pés (ou nos olhos), da passageira que perdeu a viagem, ou não sabe de seu marinheiro, aqui só, atrás dos olhos que navegavam. Quer ir na França reaver as plumas de seu garçal? Atrás dos barris, o gato miando. Na 199 esca|dinha chegava lancha. A «Lobato», a «Guilherme», a «Diamantina», a «Atatá»?
Da «Rio Anabiju» desembarca na cadeira uma doente bem mal, carregada por dois portugueses; aberto sobre a cadeira, com o sol em cima, o guarda-chuva armava um luto, e aqueles gemidos surdos, a família, muitas pessoas, faltas de sono e sossego, esta a mais moça, sempre ao lado da doente, furtiva se olhava ao espelho, reparava no seu sapato novo que rangia, ajeitou o cabelo, não sabia como combinar a aflição com a faceirice; mas um menino ao lado nada mais era que uns olhos danadinhos sobre a cidade, furiosos de impaciência e de secreta alegria, comendo a cidade, cobiça de saber, indagar, largar-se da doente, da família e correr de uma vez só em todas as direções de Belém. Ali sou eu de novo, Alfredo se falou. Um automóvel esperava. O cais descarregava a carga dos porões e doentes do interior. Desse longe, aguacento e sem fundo porão das Ilhas, Marajó Moju, Oeiras. O interior ardia em febre, a febre das doenças, e a outra febre dos meninos? Lá das bocas de rio, Alfredo via chegando velas, um vapor, chegando dos barrancos, vilas enjeitadinhas, trapiches, onde só atracava o paludismo. Se o pai ou a mãe chegassem na escadinha, na cadeira, desenganados, com o único gosto, ou remédio, o de se enterrarem em Belém? Em cemitério de cidade, só quatro anos, não pagou, tira os ossos, bota os ossos na desconforme goela, ah! pelo menos viverão sossegados os ossinhos de Maninha na terra que ninguém revira, só em cima flor ou, quando nada, juqueris, calangos gordos e passarinhos, uma e outra cobra, com todo o respeito, por ali, quieta. Mas a d. Celeste vai ao galpão Mosqueiro-Soure? Esperar o navio da linha? Dava tempo de ir e vir na mesma tarde, de alcançar de volta da praia do Chapéu Virado, o navio das seis? Nem num vôo podia quanto mais pecando. Não. Descansou um instante no banco, neste passo é para o largo das Mercês que a pobre garça vai.
Vem pela padre Prudêncio, com certeza pensando no largo da Pólvora, até parece mudar de vestido e de movimentos, é o sol, as sombras, o estar sozinha, é o seu caçador 200 atrás que lhe arranca as derradeiras penas. E ambos continuavam cada um com a sua solidão. Aqui Alfredo cisma soltar a sua garça; ia mesmo atrás da d. Cecé, ou do colégio perdido, a perdida Semíramis, o baile da Mãe Maria imaginado por essa tamanha desaparecida, a senhorita Andreza, faça uma idéia, cria das onças e dos búfalos? Ou por sentir-se em maior culpa, a rastrear espiando, duvida e não duvida da inocente? Ou por fadiga, ou é a lembrança de ver, ali a um passo, a casa de Nazaré onde morou, teria caldo? O pardieiro dos Alcântaras, a moradia que já não era o que foi, o que ainda era ainda é? Era um pulo, bastava cruzar aquele pedaço do largo da Pólvora... e sem saber, não quis, esmoreceu, ainda em pé o pardieiro? Ou restava a parede da frente, as janelas vazias, só a caveira da casa? Desviou-se para o largo da Trindade seguindo a d. Cecé, passa pela barbearia da esquina, aqui sempre lia jornais, a morte de Rui Barbosa, revistas, a exposição do Centenário no Rio, ah! quantas vezes. E contempla, a uma distância de d. Celeste, debaixo das palmeiras, a casa onde quis morar e não morou e nunca mais. A casa do padrinho Barbosa, tão grande e por ele tão desejada e lá não coube. Cada vez mais agachada junto ao palacete do Governador. Fechada-fechada. Escureceu mais nas paredes, na platibanda, descascavam-se os portais, teriam-se mudado? E o gramofone? O ganso? A tosse do padrinho? E aquela escada da porta onde talvez rolou bem menininho e logo subindo não pelos degraus mas pelo som da caixa de música lá de cima?
Mas foi distrair-se, meter-se na caixa de música e pronto! nem rastro, sumiu-se a d. Celeste chão a dentro? Na igreja, está não, como dizia a madrinha-mãe. Escapou pela Arcipreste? Em que bolso, de mágico, escondeu-se? Danados de automóveis, estes, que não deixam ninguém passar, muitos, só vão parando na porta do Palacete? Diabo, diabo, se bem andou, d. Celeste, a senhora pisa longe. Mas na Arcipreste? Serzedelo? Ou nalguma casa do largo, mas qual? nesta, naquela, sim, que de repente, fe-chou-se muito brusca uma aqui, de platibanda e veneziana, foi? De seu vôo nem um ar, de cheiro nem lembrança, onde 201 apa|nhar a caça, soltar os cachorros em cima? Inocente-inocente?
Alfredo correu-que-correu para o largo da Pólvora, deslizou pela macia calçada do Rotisserie, cego para os cartazes do Olímpia, rodeia o chafariz sem água, avistou: lá se vai, lá se vai, na sina de caminhar, já noutro lado, meio desfeita na sombra bem fechada das mangueiras. Subirá a São Jerônimo, renteando a Piedade ou vai sair nas baixas da Almirante Wandelkok? Nisto, ah, possível, impossível passar, ter de ficar retido que acontecia? Por que o encalhe, esse, de tanta gente na rua? Ter de ficar ao pé destas senhoras assustadas, do tamanqueiro, este, o gorducho com a enfiada de mucuãs? Partiram-lhe o caminho, separado o caçador da caça, que foi esta e tão de repente aglomeração sobe-não-sobe o terraço, na calçada das mangueiras. defronte do teatro, as bandeiras em punho? Fechou-se o rumo, apagou o rastro da d. Celeste. Ela agora, mais solta devia ir voando, por onde? Que procurava que não encontrava? Até quando a sua inocência e quando e onde a sua culpa? E este movimento, impossível romper o cerco, a tapagem, assim de supetão, eivém mais eivém mais, engrossou o cordão, aos lotes, um povo subindo da rampa da Quinze, espumando do Bulevar, Reduto, Manoel Barata, Santo Antônio... Em tão tamanha acumulação de pessoas que é que acontecia? Alfredo atrapalhou-se, engolido pela enchente, não sabia romper as malhas, cai num rebojo fundo, que tantas criaturas, procissão de santo não era, então que era, que era? Em vez de andor traziam aquele carro puxado por uma corda e lá em cima de fantasia a moça pintada de branco, no diadema escrito «A Liberdade», um carro de carnaval? Não, que os rostos vinham sérios, fechados, rostos muitos, o carro agora até lembrava a berlinda de Nossa Senhora de Nazaré; e aqui na placo-laco tamanqueando alto a quantidade de mulheres a levantar sobre as cabeças esta faixa: Somos cigarreiras. Alfredo é puxado pelo folharal de cabeças e punhos a entrar pelo jardim, invade o mictório que faz parte do antigo luxo da borracha, e ocupa os coretos, o caçador empurrado, espremido, lançado na calçada, adiante solto, sempre zonzo, de novo na proa 202 da aglomeração ao mesmo tempo desfeito na geral correnteza que o arroja para o colo das mulheres, estas, desinquietas, falantes abrindo a faixa:
— Vizinho do 268, meu batuta, o «Zéfiro» como vai?´O «Pégaso», o Belerofonte? E essa garrafa de barbante no gargalo? Cana para a dona da casa misturar as ervas ou abrir o apetite? Me deixa cheirarzinho... oh, não. Querosene. Mas o proprietário do «Zéfiro» ainda acende os seus lustres com querosene? Os fretes da navegação não chegam nem para ligar a luz? Que val que amanhã é quarta-feira. Feriado na Inocentes. Vou contratar banda dos bombeiros. Olhe aqui no calendário desta prateleira, está vendo? Marquei, santifiquei as quartas-feiras de cada mas. Amanhã é dia. O dia. «O Estado» vai soltar o seu foguetão, que foi que não foi, está no placar do jornal, o Café Manduca fervilhando. Vai sair numa carruagem invisível, de pluma e sombrinha, a rainha das nossas palhas. Vai passar a cidade em revista. Vai dar o seu bordo, sim, seu giro pelo Centro. É a sua via amorosa? Cala-te, Sardanapalo. Rendo minhas homenagens à Senhora Quarta-Feira. Outra dose, Aragão. Me deixa aqui conversar baixinho com este meu pinto ainda não calçudo.
Alfredo — embaraçado. nem desenrolhar a garrafa sabia — reparava que o taberneiro fazia sinais ao Cara-Longe para calar-se.
— Aragão, não falo no meio da rua. Converso entre amigos. Sei que metade das saias desta Passagem inventa 176 o diabo desse passeio da quarta-feira. Todas no fundo do quintal, ao pé do poço, na torneira lá na Curuçá, no estender a roupa nas cercas e no pouco capim da Inocentes, assopram: amanhã é o dia. E eu? Caluniei a senhora?
Cara-Longe levanta o copo, um gole só, cuspiu. Em que se fia, em que se fia, para falar assim, sem medo, indagou-se Alfredo. Ou só porque estou ainda desta idade e sabe que não sou um leva-e-traz?
— Por que a Senhora Quarta-Feira não sai a cavalo põe os arreios no «Pégaso», por exemplo? Soou que um oficial da cavalaria, voltando da parada no seu cavalo de malhas brancas, passou pelo 268 e estacou, cumprimentou à senhora na janela. Ah pra que fizeste isso. Bota a culpa na janeleira. As bocas que escutei, os olhos que vi, as mãos emborcando o caldeirão na homenageada!
Pena que a mitologia do marido não traga o «Zéfiro» ate a porta do 268 para embarcar a senhora e levá-la de vela e bijarruna pela cidade, bordejando. Só quero que com as suas velas espante as moscas, impeça as moscas de ocuparem a Inocentes. Olha como elas já estão invadindo... Já basta o que tem e os mosquitos e nós, criaturas, que não sabemos a que viemos.
De novo o copo, Aragão batendo as moscas, Cara-Longe aconcheou a mão ao canto da boca:
— Gente, soa por aí que o forno da Cremação, adeus, se apagou, quebrou, parou de vez, reduzido a ferrugem. Não se tem mais onde incinerar o lixo e os cachorros hidrófobos. Não ouviram que principiou a dar uma moléstia nas crianças que os médicos não sabem? As repartições de Saúde estão reunindo, conferências e mais conferencias. Duas gitinhas na 9 de Janeiro bateram o pacau, o Matias bordejou por lá, meteu o nariz no «quarto», as mães da vizinhança tão alarmadas! Os médicos não sabiam. Aí pros lados da Pedreira, Humaitá ou Lomas Valentinas, já tem havido demais anjo. O lixo se acumula na cidade. As carroças da Limpeza Pública pararam. As moscas baixam. Os anjos sobem. E eu que me apelido de Herodes! Em vez de lixo, as carroças vão carregar curumim para o Santa Isabel. E entre as crianças condenadas, está o filho de Deus?
177 Só agora Alfredo reconhece nessa voz aquela do oco escuro da Inocentes dentro da lama e sob a chuva: Eu Herodes-Sardanapalo! É a lama!
Com zombaria e confidencia, logo num tom de alarmado, o Cara-Longe falava. Alfredo se deu conta: sim, sim, também espiou um «quarto» na D. Romualdo, de três meses o Inocente. E aquele da Oliveira Belo, o caixãozinho azul, alto, de flores, na salinha clara, uma velha ao pé, o cachorro ganindo como se chorasse o anjo. Mas pensou ser o trivial em Belém no que tocava à mortandade de crianças. Não era assim em cachoeira? A lei não entrou no chalé e não tirou de lá a Mariinha? Dois anjos, um pelo rio, outro pelo campo, caminhavam dentro da mãe, agora só no chalé, só. Só? Gorgolejavam as garrafas, cinza e gingibre na cozinha escura, a mãe no rio atrás da sepultura do afogado, onde? Agora, aqui com a sua boca de demonio, o Cara-Longe trombeteia. A Cremação quebrou. As carroças da L. P. não tem mais burro nem cavalo nem aquele búfalo velho que apanhava o lixo da Batista Campos. Das mãos do taberneiro, Cara-Longe apanha a garrafa.
— Vai, meu filho, leva o teu querosene antes que eu beba, faça de minha língua a mecha que ateie fogo palhoçal adentro. Me viro em forno da Cremação. A Nossa Senhora desta Passagem vai chorar novamente. (Em outro tom, ar de escuta). Mas começa mesmo a morrer mais criança? Também lá na Caripunas, seu Lício nos trouxe a novidade. A doença, que os médicos não sabem, davam nas crianças de menos de dois anos. O Intendente avisou que passou a comandar pessoalmente, a grande campanha
desenvolvida com o objetivo de eliminar a praga das moscas... Ora, meu Deus! A grande campanha! São as notas oficiais. Ao mesmo tempo, outra nota oficial declarou que ocorreu em Belém um surto de disenteria bacilar com alta letalidade, atacando, de preferencia, infantes e crianças, subnutridas e desidratadas nos bairros pobres, onda as condições e hábitos de higiene são precários e a educação sanitária é desconhecida... Aqui está no jornal. Mas meu Deus! esses doutores!
E em tom escarnecedor, depois suplicante: Que a senhora Quarta-Feira com as suas mãos espante as moscas, 178 afugente a morte ou faça o Menino Deus fugir em cima do bom burrinho da Curuçá, aquele da vacaria ou, pelo menos ,montado no «Pégaso». Mas qual menino? Quem? Onde? Nem a estréia avisou nem os três magos adoraram? Ninguém? Não há tempo para a fuga. Os soldados de Herodes são milhões, se multiplicam em milhões. O decreto será cumprido. Não há mais Cremação, as carroças da Limpeza se desconjuntaram. Nenhum inocente escapará. Outra dose, Aragão. Desconfio que vem por aí um apocalipse.
Alfredo, espantado, atraído. Seu Lício também? Predizendo calamidades?
— Amanhã rompe aleluia, dia da senhora Quarta-Feira, da rainha das nossas palhas. Ela e a gentil normalista são as fidalgas deste monturo. A pérola vai sair de sua concha. amanhã. Em que outra concha se guarda por umas horas? Algum comandante? Um dentista? O hindu astrólogo do Palácio das Musas na São Mateus? Não sabes, meu anjo? Não, nunca saibas, não. A senhora Quarta-Feira pega o circular externo e volta pelo interno. Faz o seu movimento de translação em torno de um sol que deve estar escondido num gabinete dentário, numa sala de quiromancia, num chato de cortina, reposteiro, penoar e moringa na janela. Ou na igreja de Santana ao confessionário com aquele galante vigário? Ela dá assim um laço em volta da cidade. Pois uma vez desceu no Hidroterápíco na Dois de Dezembro, entra no banho a vapor. Eu no rastro, entrei no sulfuroso, quis varar a seção das mulheres, apanhar aquela Eva no meio do vapor paradisíaco. Saí fedendo a enxofre. Não demorou me veio ela saindo do Éden, um cheiro-cheiroso de todos os cheiros, um folharal, um raizame de cheiros espalhando-se ali em roda do Hidroterápico, pela Dois de Dezembro. Entendeu a astronomia, a hidroterapia e a botânica, meu ilustre aluno do Grupo Escolar Barão do Rio Branco? Tenho uma prima no Barão, conhece a professora Maria Loureiro Miranda? Pois fomos colegas na Escola Normal. Preferi esta cátedra aqui, depois de minhas travessias contra a Recebedoria de Rendas e os fiscais municipais no Ver-o-Peso. Faço as minhas 179 contri|ções benzendo unheiro. Pois bem, o itinerário da passeante eu explico...
Cara-Longe foi riscando a carvão de lenha, no chão batido, o trajeto da passeante. Alfredo quis pisar, apagar, quis repelir bem brabo, fez? Cara-Longe .agachado, traçava o passeio e Alfredo, ávido, incerto, temeroso. E esse primo, de repente, da professora Maria Loureiro Miranda, no mesmo minuto amigo do seu Lício da Mãe Ciana, tanto sabedor dos teus, dos meus segredos quanto o maior espalha-conversa? E do 268, quem lhe vinha contar? Aquele sapo cororó cororó de toda noite lhe trazia os avessos da Senhora Mac-Donald?
Ouviu, viu, calado sempre, como se aceitasse e confirmasse tudo; o Cara-Longe, rastreador da misteriosa, andou em todos os passos dela, fosse aqui, Muaná e no «Trombeta»? Não repeliu o Cara-Longe, por medo? E era de seu dever repelir, não ficar ali um só instante, e ficou até o fim, ao pé do traçado no chão, quase divertido. Usava assim de falsidade com a família que o acolheu? Deixava que se falasse de uma dona, aquela, e inda mais, sobrinha de seu pai, que se ofereceu para hospedá-lo por ver que o pobrezinho não tinha onde em Belém continuar no Barão? Mal com ela pior sem ela. Debaixo daquelas palhas, agüenta Belero, o silêncio da Arlinda, «Pégaso» grunhindo. a deusa na espuma de seu Antonino, e a senhora em ronda dos tajás e da mala dos vestidos, de qualquer forma, estudava, em Belém ficou, sabia curtir. Foi comprar um querosene, dá com o Cara-Longe e deste ouve as boas, sem ao menos soltar um: Fecha o bico, papagaio velho. O benzedor de unheiro e atravessador do Ver-o-Peso, a cabeça em retaguarda, franzia fundo a testa, a boca de mau agouro, o carvão riscando o mapa. Com o seu querosene, tardava o passo. Danado! E não passou o pé em cima daquele mapa. A garrafa parecia mais cheia, mais pesada, temeu que ela fugisse por entre os dedos. Carregou-a pelo barbante. Se estava na Boca aquele assunto da quarta-feira, é que toda a Inocentes já sabia, falava. Que deu no juízo da d. Celeste para só sair na quarta-feira? Variasse os dias, as horas, saísse com o filho, esperasse sair debaixo da chuva, não tinha boa sombrinha? Ou 180 então, antes de pôr o nariz de fora, chegasse perto dele e lhe confiasse: Alfredo, vê lá fora, pra mim, pelos cantos da Inocentes, janela e porta, buraco de cerca, se tem gente espiando, se tem abelhuda me vigiando. Ele é que não ia lhe perguntar nada, o favor fazia e de todo o coração. que ela fosse onde mais lhe apetecesse, ser mãe de Belero fonte merecia até passear muito mais. Mas não! Escolhia sempre a quarta-feira atiçando a abelhudice da Inocentes. e depois... Aqui d’El Rei! Aqui d’El Rei! como dizia o pai. D. Celeste era, sim, demais temente de coisas, de «faz mal, faz mal», «Não presta fazer isso» «não sabemos as coisas». No Espiritismo, ia. Anotava na parede endereço de pajés, crente nos horóscopos. Quarta-feira era obra de uma crença? Conselho das almas? Foi o Hindu do Palácio das Musas? Promessa, penitencia abusão? E lá se vai, na mesma data a d. Celeste saindo na boca do mundo, o prato da quarta-feira. Por toda a parte aquelas línguas lá do terreiro do avo Bibiano, os aleives abriam postemas, adubando a falância com terra de cemitério. Também assim não podiam maldar da mãe quando vinha a Belém, quando viesse vê-lo, sozinha nas lanchas, sozinha nos barcos, dentro do toldo onde na camarinha atrás, dormia o piloto, se deitavam homens? Aquele balcão ali na Boca, com o Cara-Longe, esguichava a peçonha, a légua e meia. Todos fossavam a vida do próximo, do mundo só viam o imundo, em meio de suas risadas de jacurututu.
Alfredo balançava a garrafa, oh! que nojo da metade desta Inocentes. Ali na taberna, bastava meia hora, crescia um ano. Em que se acabava o colégio ao pé da montanha. Dantes, saía bonito-bonito de dentro do coquinho de tucumã, este de mão em mão, alto, lá no alto e hoje, rato comeu. adeus Colégio do São Nunca. Nem um tucumãzeiro já o coquinho do faz-de-conta pode grelar. Ia sabendo, ia sabendo coisas feio, triste, com bem imundície. Feio, triste. imundo, e de tudo isso ia até gostando, apreciava, sim, era culpado? Era o primeiro? Inocente adeus que era, sabia, aquele «nunca saibas» do Cara-Longe era mandando saber depressa, sim. Meio adivinhando ,metia o nariz, afastava as palhas, retirava o argueiro, via, lá dentro era este mundo, o espantalho da esquina, que fim que levou os 161 Alcântaras? O Cara-Longe às voltas com a d. Celeste. Do Hidroterápico via o vapor envolvendo a d. Celeste pelada e, alguém, empregada preta, branca portuguesa, polvilhando de cheiro-cheiroso a que saía do banho. E logo dentro do vapor, tal qual como a viu o menino na Baía do Sol, brotou a professora Maria Loureiro Miranda. Nestas coisas de agora, Alfredo queria também a madrinha-mãe, a d. Inácia Alcântara, atravancando com a sua gordura o trajeto entre o Hidroterápico e a Inocentes.
Pousou a garrafa no chão, riu: ver os três Alcântaras, gordos, juntos, pai, mãe, filha, juntos, em pelo, no vapor do Hidroterápico e o Cara-Longe, depois, com a mangueira de água fria jorrando nas três banhas... Libânia, vem ver, corre, Antônio, isto nem no “Ou vai ou Racha” nem no “Repenico Vobis” do arraial de Nazaré.
Atravessou o pedaço da passagem, um quarteirão-mirim de uns quinze metros que à noite, das onze em diante. virava suspeitoso, um breu de macho-e-fêmea, altas horas. No centro do campinho de futebol, a mangueira mãe. Passou pela Sociedade Jesus, Maria, José, pela igrejinha batista, a tenda espírita, a janela da parteira, o cego no mocho a cada dia mais ceguinho, as barracas de antigos velhos retirantes da seca que a toda hora repetiam: tenho fumo, não. Quero, não. Fico no Pará, não. A sede do clubinho, aqui, dá baile no sábado a mil e quinhentos cada cavalheiro, dama de graça, certas moças locais, (exemplo; a normalista), não iam. Passou a bandeirinha de açaí, a escolhinha particular São Raimundo Nonato de onde saltavam os óculos da caranguejuda e estridente professora, a palmatória na mão, no pescoço o rosário. Alfredo arrepiou-se ao imaginar tremendos óculos em cima da d. Celeste, quarta-feira, amanhã. Esta barraca é a 65, nela a Nossa Senhora da d. Joaquina Gonzaga chorou, contavam, já inteirou um ano, a menina entrevada saltou de sua cadeira viu, correu, chamou, a santa derramava uma lágrima, chorou, chorava, e toda a cidade se rojou aos pés da santa chorando; põe a Inocentes no jornal, nos telegramas, e vem procissões, rezarias, romarias, tal o alumiamento de velas que nem dia de finados, doentes de toda doença se arrastavam e Nossa Senhora de d. 182 Joaquina Gonzaga chorando. Na piedosa aglomeração, entre a enormidade das penitencias e ladainhas, tantos degredados filhos de Eva se lavando nas lágrimas da milagrosa, não faltou o Intruso para estender e atiçar os limites do macho-e-fêmea antes tão encolhido no quarteirão-mirim, rebentou uma briga, rompeu a cavalaria, vieram os bombeiros para apagar um fogo na barraca defronte e nove irmãs desta viraram cinza, o fogo não lavrou mais porque três dias e três noites choveu que choveu, diziam que era a Nossa Senhora chorando. Mas então o Cara-Longe —foi o que se soube depois — entrou pelos fundos da barraca sagrada, se vale do alarido, do reboliço, do incêndio e da chuva, por um repente se esvazia a sala onde a santa chorava, vai, trocou esta por outra igual-igual, roubou a imagem, vai à cidade velha, lhe enxugou as lágrimas, falou: quietinha, por aqui, não se afobe. até que aquele povo passe a loucura. E assim a cidade viu que a santa não chorava mais, o Bispo deu uns conselhos, ninguém deu pela troca das Nossas Senhoras, tão parecidas, tiradas da mesma forma, e a menina entrevada voltouzinho à sua cadeira e o macho-e-fêmea ao seu devido lugar. Usando a sua artimanha, o Cara-Longe, passada a loucura, carregou de volta a Nossa Senhora da d. Joaquina Gonzaga e ficou ela, de olho seco-seco, indiferente à entrevadinha e ao que se passa aqui fora, a não ser quando vem uma boiada do campinho de futebol, a bola roça-lhe a face, roja-se aos pés da santa, ameaçando atirá-la ao chão, quebrá-la, bola dos seiscentos diabos. Essas estórias Alfredo escutou. Cara-Longe contava, mas a Inocentes desmentia, todos sabendo que a imagem nunca saiu do seu lugar, deixou de chorar quando Deus quis. Cara-Longe, assoprador da peste, o que dizia, mentia, era voz geral.
Aqui Alfredo passa rente da janela. Entre as velas acesas a santa da d. Joaquina Gonzaga. Cuidado com a bola, Senhora Mãe de Deus.
O comprador de querosene, neste momento, vem passando pela casa do Agente da Polícia Civil, investigações e capturas. Na janela, cabelo partido ao meio, seríssimo num pijama marrom de alamares, coisa que só ele 183 osten|tava na Inocentes. Do Agente, certa noite de serenata no vizinho; Alfredo ouviu:
— Mandei parar essa arruaça! Represento ou, não a Ordem Pública neste perímetro? Olhem que vou ao Necrotério da Santa Casa, que está aberto, tem defunto e onde tem telefone, e chamo o «violino» que recambiará vocês todos, Faço um auto de apreensão dos instrumentos. Conhecem as posturas? Hei de acabar com desordens na Mac-Donald!
— Mas, seu Nicanor, serenata é desordem? O sr. me conhece, cantamos no maior respeito. Distrair as mágoas não é uma arruaça. Acatamos as posturas, ninguém por perto tem pessoa doente bem enferma nem sequer um anjo. Quem toca e .canta, seu Nicanor, nesta Passagem, faz até urna caridade. Seu Nicanor, conceda, consinta, transija.
A essas últimas palavras, o seu Nicanor deu um tiro para cima, a serenata voou, restou um violão ao pé da vala, Alfredo viu: O Agente Nicanor colheu o violão; deu-lhe uma fúria rompeu as cordas quebrou, pisou levou ao fogo o inocente. De pijama, nos seus alamares como se fosse num uniforme de gala, ali estava um puro Marechal, Que te crie bicho na língua, seu bom palerma, o pé, que quebrou o violão, caia podre. Isso Alfredo murmurou como para se desabafar também contra o Cara-Longe. Nisto apareceu na outra janela o filho do Agente Nicanor, também cabelo ao meio, queixo de cavalo, já de calça comprida apesar dos treze anos. Por ser filho de quem era, não empinava papagaio, jamais gazeteou, ficou de mal com Belerofonte. era escoteiro ,se gabava de nunca ter apedrejado uma mangueira, nunca urinou gostoso ao pé dum poste na rua, assoviar também não. Alfredo passou pelas janelas da Autoridade, investigações e capturas; queria uns marimbondos dentro deste bolso, e bem em cima desses dois soltar os bichinhos, quem que não soltava?
Alfredo ia sabendo, com curiosidade e revolta, que a Passagem, desde o Cara-Longe até a Nossa Senhora da d. Joaquina Gonzaga, se unia toda, taberna da Boca, o futebol, o cego, a parte onde se pecava, religiões, a 184 instru|ção particular. o Ceará na pessoa dos sarapecas, o investigações e capturas, a porta do cacho da banana, conspiravam, assopravam contra o saimento da d. Celeste, sem falhar, na quarta-feira. Aquela casada ia num rumo que decente não era, só podia ser de quem deixou a alma na unha do Cão, risco de fazer a Nossa Senhora, de novo. derramar pela face as suas santas lágrimas. Ou do marido lavar em sangue semelhante passeio? Aqui o Alfredo indagou da garrafa de querosene: e seu Antonino Emiliano? Que idéia tinha dessa quarta-feira? Fingia não saber, ou sabia? Nem ligava? Pelo menos não pedia à mulher que variasse os dias? O tempo inteiro catava fretes para a sua embarcação, rondando o Ver-o-Peso, à espera do «Zéfiro» que nunca chegava? Marido e mulher no 268. Alfredo via, nunca se entendiam não porque andassem batendo boca ou se contrariassem na maior maciez a~ razões dum e doutro. Não se entendiam fingindo-se entenderem-se muito bem, a d. Cecé fazendo a refeição, muito educada, de talher e o marido comendo na panela. Faz mal comer na panela, foi só o que ela disse, uma vez, olhando para Arlinda. Depois, silenciosa ao pé da mala. escutava o marido arrotar sobre o livro da mitologia. Tão bem casados pareciam que se ia logo o mau casamento. Horas, saídas, pensares e obras de d. Cecé? O marido podia dizer: eu sei? E eu quero saber? Seu Antonino Emiliano tinha mais em que pensar. agindo pelas marchantarias ,suplicando frete de gado. pelas casas de comissões e consignações. na Antônio Silva que carregava as embarcações do Arari, Marajoaçu. Muaná. Esperava que o cunhado lhe mandasse dizer a data que vinha, se breou a canoa, como haviam ajustado. Leônidas não sabia que os mares descalafetavam a embarcação?
Sopravam-lhe no Ver-o-Peso que o cunhado, em vez de navegar, embarcar reses ou carga trivial no Alto Arari. Anajás ou Cachoeira, encostava o «Zéfiro» no mangal e logo em terra ia apanhando costuras daqueles sítios, um paletó, dólmã, até vestido de mulher, tendo mesmo colocado debaixo do toldo uma velha singer meio ferro-velho do Itacuã onde consertou, azeitou, mandou buscar lançadeira. A pessoa, que contava, não podia jurar. garantir 185 não garantia, não fosse o seu Antonino mencionar quem contou, pois este, levado a testemunho, diria que não viu nada. O cunhado não queria uma navegação freteira, conforme o compromisso, mas uma alfaiataria ambulante, fluvial, o regatão alfaiate. A Leônidas isso bastava. E sem nenhum zelo pela embarcação alheia. Numa trovoada lá se foi rasgou-se a vela grande, o bastante para o alfaiate atracar a canoa no porto de Santana, remendando horas e horas, dias, o pano avariado. E ao redor do homem — seu Leônidas, me ajeite este botão de paletó, me encolha esta calça comprada no Ver-o-Peso; seu Leônidas, mas me talhezinho esta camisa; seu Leônidas, veja o que o sr. me faz com estes retalhos, olhe que eu gratifico o sr. Em paga, o Leônidas só queria um vinho de cupuaçu adoçado com açúcar moreno de Abaeté, uns ovos de tracajá. o peixe de cacuri na brasa e um dormindinho na camarinha com as não comprometidas, lanceadeiras de igarapé, colhedoras de sementes que dão azeite, andadeiras de beira-rio. roçado e piraquera. Queriam, não era? Havia de enjeitar? Leônidas cobria o seu harém com a vela grande. A vela rompia-se porque o cunhado permitia que o piloto Catumbi metesse a canoa debaixo dos pampeiros da baía, a pique de irem ao fundo nas alturas do Caracará. Isso tudo o seu Antonino explodia na cozinha, primeiro brabo, depois simples queixoso diante de Alfredo. do «Pégaso», da Arlinda que lhe descalçava as botas. D. Cecé recolhida no quarto. Pois nem a metade do ajuste tinha pago. Saldar o resto, em que século? Os fretes escasseando, tudo ia nos ordenados do piloto. dos dois tripulantes, reboque de lancha, retiradas do Leônidas, e o mantimento? E a conservação do «Zéfiro»? As apostas da rinha levavam-lhe o resto; sobrava-lhe a mitologia para conversar com Alfredo. Empenhara tudo no «Zéfiro» e agora precisava reduzir pessoal e sustento de boca, despedir um tripulante, mandar embora o Catumbi, tomar o leme na mão. Também o frete de uma rês àquele preço? A comedoria da viagem era por demais, só o Leônidas em café e açúcar consumia o rancho. Que o cunhado fosse montar a sua alfaiataria no mangue, fincar a singer no jirau: aquele, nem casar soube, jamais quebrou o protocolo do Desembargador, a 186 noiva criando caraca no sofá de mogno. Então, seu Antonino representava, na cozinha, a visita de Leônidas à noiva, A moça, a Amarílis, educada no Colégio de Santa Catarina, era filha adotiva do Desembargador Serra e Sousa, homem de poucas letras jurídicas mas de muita sobrecasaca é leque no Foro e que em sua casa nunca ia à mesa sem gravata e paletó. Quando vinha a Belém, para visitar a noiva, o Leônidas tinha de enfarpelar-se a rigor. A criada, de uniforme, o recebia, ligava o lustre mostrando a pesada sala daquele sobrado que atulhava a esquina da Arcipreste Manoel Teodoro. Alto, gomado da cabeça aos pés, lacônico, o Desembargador sentava na sua cadeira de embalo e abria o leque, a abanar-se. A senhora, chegando, num boa noite, seu Leônidas, e a família? Muita febre por lá?» abatia-se, num surdo alívio, noutra cadeira de embalo, a embalar, a embalar. Descia então a noiva, num passo de retardatária, apertava a mão do noivo, já sentadinha no sofá ao pé de macambúzia estatueta de bronze que era a Justiça. Logo ao embalo das cadeiras e no rumorejo das mariposas em torno do lustre, morriam os assuntos. Enfarpelado, duro na cadeira, lenço na testa e no cangote, o Leônidas tentava colocar bem o seu pronome, falando de Pernambuco, do navio italiano e logo se ia todo o esforço ao embalo das cadeiras e dos fugidios monossílabos da noiva. A criada, de uniforme, trazia o café num xarão austero. O Utinga apitava, já? As nove? Leônidas, perfilando-se, pedia licença. Os três, de pé, recebiam os cumprimentos do noivo que saía. Na rua, sacando paletó e gravata, corria o noivo ao Ver-o-Peso, pulava na proa de uma canoa do Arari, uma duas três talagadas pedia, bebia, sedento. E ao som dum cavaquinho e das velas sobem e descem na doca, o noivo emborcava sobre o rolo dos cabos até raiar. Assim dez anos. Agora o desembargador aposentava, a noiva, engelhando, no mesmo sofá, esperava sentada.
— O Leônidas demora com a «Zéfiro» por lá para não ter de visitar a noiva. Mesmo a sua casimira surrou, puiu, era uma vez. Para aquele protocolo na Arcipreste tem que talhar roupa na Ramos mostrar na luz do lustre o traje a rigor. O «Zéfiro» não rende para tanto vestuário, 187 meni|nos, para esse ofício de noivar com filha de desembargador. Me deixe então de se encarregar da minha simples canoa. Exonere-se. Corte onde quiser. Sustente o protocolo porém fora do «Zéfiro». Monta no «Pégaso», Belerofonte, e me dá cabo da Quimera, rapaz, arre! Pra-que que foi então que te botei o nome e batizei o porco?
Um instante, Alfredo se fechou, crispado, de garra em cima, Seu Antonino falava nos amores do Major Alberto.
— Me orgulho dele. Um tio que soube ter o seus amores. Não digo amor, amores. Amor é coisa escrita em papel, é da filosofia e amores é o que é misturado com o suor do corpo, com o bom e mau cheiro e os azedos do mundo. Branco com preta, não desfazendo da Amélia, uma especial criatura, não pode ser nunca amor mas amores. A raça africana tem fama de pecadora da carne, por isso é pura. Mas nós, os brancos degeneramos. Tua mãe é pura. E quando dei esse nome ao meu filho foi, pelo menos ,para que eu pensasse que havia de vencer o monstro que nasceu nele, anda nas almas, aquilo que atiça o juízo das mulheres brancas sempre de corpo frio, uma alma de fogo e o corpo de gelo. O monstro nos empobreceu, nos separou, o homem afogado nos fracassos, a mulher metida em paixões que só dão cinza. É do geral que falo e muito em particular dos meus parentes brancos. Mas, a tua mãe é pura. Teu tio Sebastião é puro. E eu sei, eu soube, ele vai cruzar o sangue com a espanhola, se já não cruzou.
Alfredo queria apanhar naquelas palavras explicações, enigmas. Não entendia. Seu Antonino gracejava? Ria, entortava o pescoço, ora de esguelha para o corredor e para a rua, dando guinadas de corpo.
— Sei que o teu tio já vai pela casa dos vinte filhos espalhados do Juruá ao Arari em tão pouca idade. A raça negra redimirá. Vês o Leônidas? Fez do «Zéfiro» a nau imunda, é o corsário femeeiro do Arari, apanhando as cunhatãs na beirada. Mas nem um filho. Lhe falta adubo e pureza. E isso até que a noiva expire. Não tem geração. O Major, sim, adubou-se na África. E foi bom. 188 E tua mãe te pariu e aqui estás, que a tua tribo tenha o favor da multiplicação. A nossa? Achas que Belerofonte vai matar a Quimera? Comeremos o «Pégaso» de forno no dia do Círio. Preciso agora danar-me para a Costa Negra. Por lá tem ouro, diamantes, contrabandos, as catástrofes, até a morte, se for necessário, a morte dentro da lama, tem D. Cecé terá uma coroa de diamantes. Talvez ache uma pepita suficiente para mandar o Belerofonte estudar na Inglaterra como os Chermonts estudaram, os Mirandas, onde aquele Edmundo Menezes estudou para vir sumir montado num búfalo dentro da lama... Preciso tirar o galeão das mãos do alfaiate. Meu filho, meu parente, a África salvou teu pai, e espero garimpar uma negra da Guiana, será a Cassandra, a Cassandra...
Mas Alfredo não compreendia. Por que o seu Antonino Emiliano nenhum tento dava ao passeio da quarta-feira? Casou com a d. Celeste depois daquela viagem no «Trombetas», por que? Então sonhou para o «Zéfiro» fretes mágicos que pudessem trazer vestidos, leques e sapatos àquela esquecida sob as tristes palhas do 268. Dias atrás ouviu-a cantando. Não essas modinhas mas partes da Viúva Alegre. Árias, como explicou. Árias. Lembrava o gramofone do padrinho Barbosa. Em pedaços de árias cantarolou baixo:
— Quero ir em junho. Muaná vai me ver em junho. Ainda conto com um bom frete do «Zéfiro» para fazer uns reparos no sobrado.
Fez-se séria:
— É. É o que ainda me resta. Sempre tenho ali um sossego, onde passar as férias. Esqueço o mundo. esqueço isto. Morrerei ali em meio dos meus azulejos. E deles quero um ou dois para ornar a minha sepultura.
Nesta noite, depois do Utinga apitar, mais que de repente — o filho dormindo, o marido atrás de fretes no Curro — puxou Alfredo do sono e intimou um «vamos», «vamos», um «vamos» que a Alfredo parecia a repetição da fuga a bordo. Descem no largo da Pólvora, tinha um baile na Assembléia. D. Celeste pousou o braço no ombro 189 do acompanhante, e ficou, anônima, no meio do sereno que se comprimia na calçada. Que provação, essa da d. Celeste? indagou Alfredo. D. Celeste falava nos espíritos, na expiação das culpas, nos livros ocultistas, sobre a vaidade do mundo, tudo, tudo pura vaidade, somos um puro pó. Era provação estar ali, por não poder ir ao baile ou a rir daquele pó que ali reluzia e valsava? A festa da Assembléia o Alfredo quase não serenou. Serenou foi o baile dentro dos olhos de sua dama, o baile em que ela se vestia com todos aqueles vestidos e dançava com todos aqueles cavalheiros no sobrado de azulejos. Vendo-a na luz que vinha do baile verdadeiro, era no outro, sempre a bordo, que estava a d. Celeste.
No amanhecer da quarta-feira, Alfredo folheava a Paulino de Brito, já sabendo que a Arlinda entre as estacas bebia o caribé da d. Romana. Não quis ver o cada vez mais pálido caldeireiro sair nem a magra e altiva normalista para ganhar um cumprimento. Seu pensar estava no passeio, à tarde, da senhora Quarta-Feira. Nisto, a mão no ombro.
— Espantou-se, meu sempre espantadinho? Vou bater perna cedo atrás de frete. Tu, tu, que adivinhas, me dá o paradeiro do «Zéfiro. Que diz tua pitonisa?
Seu Antonino. migou tabaco, enrolou quatro cigarros, acendeu um, enfiou-se nas calças de bainha enlameada, espiando pela porta entreaberta do quarto.
— A bela e a fera dormem.
Falou baixinho. Alfredo via-lhe o paletó na mão, puído, desbotado. O colarinho da camisa — sem abotoadura os punhos — esfiapava, com a torta borboleta de elástico, muito ruça.
Alfredo seguiu-o até a cozinha onde, já de paletó, seu Antonino passou a afiar a navalha de barba, a afiar, com vagarosa delícia até que o fio da navalha pudesse ranger menos no queixo eriçado. E com isso ia também afiando a conversa cochichada, a pedir silêncio para aquela adormecida no quarto. Alfredo sentia-se crescido com as 190 confi|dências. Seu Antonino lhe falava de igual para igual. Sim. que de vez em quando, o dono da casa entremeava «és uma criança ainda para compreender diversas coisas», «fedes a cueiro, curumim», «não te gaba de eu estar te falando assim, hein? Olha a liberdade, te aparo as asinhas.» Alfredo, ofendido, divertido,. Aquele elástico no colarinho que nem forca, os velhos suspensórios arriados debaixo do paletó sem um botão, a navalha rangendo no rosto empinado de quem falava nas façanhas de Hércules como se fossem suas, fazia Alfredo rir. O barbeiro espalhava espuma pela cozinha toda. Muda, também com um bigode de espuma, Arlinda fazia fogo. Ouvia-se o «Benção, mamãe?» da normalista saindo.
— ... fundeou a alfaiataria veleira ao pé das pedras do Moirim para costurar ao som da pororoca que ali nasce. ali estoura no rumo de cima. Mas os três pretinhos da pororoca se mudaram, não tem mais pororoca no Arari. Vai encalhar para sempre naquele mangue, com o alfaiate costurando para as ciganas?
Atirou novamente espuma na cara de Alfredo, mandou a Arlinda limpar-lhe as botas, cuspiu, distraído, sobre os tajás sagrados.
— Eu me privo de tomar providência mais por causa da Celeste. É o irmão dela. Mas por tudo isso, parente, não tive que vender os primeiros azulejos do sobrado dela. em Muaná? É. Tive. E dizer, parente, que tenho que desarmar o casarão todo! Só a telha, sim, dá sempre uns bagarotes. Que azulejos! O «Zéfiro» é prejuízo em cima de prejuízo. Nunca chega a tempo. A última viagem os oito boiecos que carregou pro Curro, num tal estado chegaram... Posso assim conseguir fretes? Tenho culpa que o Leônidas não possa ou não queira ver a noiva? E o nosso de-comer? Não é com os trinta mensais que a tua mãe te manda que esta casa se sustenta. Resultado: vendo os azulejos, desmancho o sobrado. Doer me dói, sim, mas que remédio. Celeste, Deus me livre, não sabe nem vai saber. A ti te digo mas sabes que eu não te disse, não ouviste. Lacremos o segredo. Vou fazer tudo para ela não ir em junho. Nem dezembro. Passamos a comer de 191 azulejos, parente. Bem, vou acabar de gastar a sola desta bota atrás de frete. Arlinda, minha sem língua, fizeste ao menos o café? Pode ser que o Leônidas me traga a canoa antes do fim do mês. Mas qual! Queres fazer balão da espuma? É uma coisa que eu gosto, a espuma, fazer muita, gosto. Queres?
Alfredo abriu a gramática. Lá, naquele sobrado de azulejo, era a antiga família Oliveira que d. Celeste gostava de representar nas festas de dezembro. Os Oliveiras espalharam-se no mundo. O Juiz, um dia, deu o trinta-e-um num repente. D. Teodora, esta, sem mais nunca abençoar a filha que fugiu a bordo, enfurnou-se em Marabá, atrás das cachoeiras, em casa da filha mais nova, casada com um comerciante. Das outras irmãs, nem notícia. Ali no sobrado de azulejos, sou a última Oliveira. Uma das três Celestes que sou. E foi preciso fugir a bordo para conservar o nome.
Nem um só nem na sua sepultura, d. Celeste. Alfredo, adeus estudo. Esta gramática entre a d. Celeste e o marido, como entender, como estudar? Hei de passar raspando quatro na composição de sábado. Um ou dois azulejos na sepultura. Aqui o filho lhe destrói os vestidos e lá, o marido, lhe desmancha o sobrado. Ao menos um, Belerofonte, um vestido com que ela possa ser enterrada. Ao menos um, seu Antonino, um azulejo para a sepultura. E este, o seu Antonino, a fazer espuma, ia assim tão afoito em busca de fretes? É que bem cedo lhe chegavam visitas cobrando velhas dívidas. Uma e outra vez, quando não podia escapulir, estourava discussão na porta. Dedo no lábio, pedindo para não fazer bulha a uma doente no quarto, o dono da casa levava o credor ao meio da rua ou fundo do quintal para tudo serenar em longas explicações sobre as oscilações do câmbio, a mitologia, o esoterismo, o Allan Kardec. Na última vez, amansou o credor com a ferocidade do homem encarnada nas rinhas:
Aqueles galos brigando? Naquela fúria e sangue se encarnam lutas de religiões, paixões de povos inteiros, morticínios, os assírios e babilônios guerreando pela 192 eter|nidade afora. Naquele mouro, de formidável esporão, do seu Epaminondas, por exemplo? Está ou não está o Nabucodonosor?
Então na tarde de quarta-feira, foi a d. Celeste saindo e Alfredo atrás.
Assim saíram pela esquina do Espantalho, e este cravou em ambos um olhar que os fez se estremecerem. Desembocaram na Santa Luzia. Assustado, ansioso, arrependido, Alfredo teimava ir. Cometia crime? Ia rastejar uma inocente, vestia-se na pele do Cara-Longe? Proeza era, uma arte, aquela de seguir na maré a d. Celeste para os riscos da cidade. Será no mapa traçado a carvão pelo Cara-Longe?
Sim, sim, queria tirar a limpo. Aonde ia a dona, meu Santo Antônio de Lisboa? Ela saía sem escândalo, como se não soubesse o quanto estava sendo espiada, cortadinha em miúdo pelos olhares e bocas embuçadas da Passagem, e aqui seguida ,passo a passo, por um zinho ingrato falso espião. ou não era? Não seguia por bem? Seguia, sim. para provar depois na taberna da Boca: não era o que pensavam da d. Celeste, estava inocente-inocente. Havia de escrever a carvão de porta em porta, no tronco da mangueira no meio do futebol, na igreja batista, entre as médiuns da tenda, na testa do agente Nicanor, diante dos óculos da professora: inocente-inocente. E que Nossa Senhora era aquela, da barraca da d. Joaquina Gonzaga, que não punha um cobro na tamanha maldade levantada contra o passeio alheio?
Precisava provar, precisava seguir, tirar a limpo, perdoe. sim, d. Cecé, é por seu bem que ia assim lhe seguindo em segredo, na tocaia, não é de seu gênio semelhante proceder mas é preciso, é preciso. Nem sabe nem avalia o que estão falando da senhora ali defronte, ao pé, em roda, longe e perto, assanhando o formigueiro.
E ela saía sem escândalo, sem remelexos, um natural de quem ia em tão boa consciência. Uma certa pressa lhe deu a certa altura, um. ar de que fugia ao mesmo 193 tempo um ar feliz que a Alfredo embaraçava e encantava. Não lhe ardem as orelhas, d. Celeste, as costas não lhe doem com o sopro que vem das bocas da Passagem, não sentiu na cabeça, na sua nuca, o olhar que lhe disparou a Inocentes?
Apanhou o Circular, Alfredo também, em pé, atrás, O elétrico fugiu pela Dois de Dezembro, (justamente como riscou o Cara-Longe), depressa pelo Hidroterápico, o largo de Nazaré, o Barão, dobrou a Gentil, ladeou o Soledade, varando por entre as velhas palmeiras da 16 de Novembro. Na estação de Belém, um trem chegava, esfalfado.
Saltou no largo do Palácio, um pouco indecisa, vagarosa, lhe doía o sapato ou o receio? Chegando cedo ao encontro? Ou tarde? Inocente-inocente? Doutro lado, na porta da garapeira onde tomou um caldo, Alfredo espionava: D. Celeste, hoje não, que eu posso saber. Vou saber? Queria levar dali todas as razões e provas para entrar na taberna da Boca e gritar: Tome, seu Cara-Longe, leve na tromba para não levantar aleive das pessoas inocentes. E arrojava-lhe um gato morto. A mãe, no chalé, aprovaria. Aqui é com gato morto, podre, como se brinca em quarto de defunto, mas gato morto de verdade, podre. Não me deixe saber, d. Celeste.
Mas ali na parada, olhando para as folhagens do largo do Palácio? Ou já adivinhou que alguém a segue e, por isso, se diverte? Alfredo, despaciente, outro caldo pediu, e com ele os dois tostões da passagem de volta. Tinha que encontrar pelas imediações da Santa Casa e do mercadinho da Santa Luzia o gato morto. Sim, apostava com o Cara-Longe, com a própria dúvida e sua curiosidade... Que procura na bolsa? Olhou para a garapeira. te esconde, espião. Não te envergonha, espião, espiar? Não dói? Mormente agora que ela está, parece, mais sozinha, no ponto do bonde: os dois pareciam sozinhos na rua deserta, caminhando numa cidade evacuada, ela sem ver ninguém e ele só vendo a ela. Ancorada no largo do Palácio, d. Cecé dá um ar de quem diz: de mim aqui todos podem dizer: essa mora na Passagem Mac-Donald.
194 Era sua culpa, ou sorte, que ela estivesse praticando o que se maldava na Inocentes? Mas fizesse, fizesse, contando que fosse um instantinho feliz, se aliviando do filho, do marido, do «Pégaso», dos tajás, dos vestidos, de si mesma. Não sou eu quem te julga, joguem a primeira pedra, dizia o pai. Mas é Deus que leva ela ou o Diabo, ou ambos? Por outro lado, queria dizer dela: Na Passagem, por essa, ponho a mão no fogo.
A mão no fogo?
E fogo não é o que se ateou na passante, a tocha por dentro, a arder pela cidade? Queimou caturra no chalé, queimou aquela borboleta e por brincar com fogo, se não urinou na rede, fez Maninha se queimar e quem sabe se o fogo não influiu na morte da irmã? Agora a mão no fogo pela d. Celeste, no próprio fogo que é aquele passear? Até onde era direita a d. Celeste? Direita ou esquerda, não era ela, ali contente? Aos outros que mal fazia? Celeste, no ponto parecia escolher um caminho. Ou a espera do vento que lhe acende as brasas?
Alfredo rodeou, veio, atreveu-se, colocou-se bem atrás dela. D. Celeste semelhava aquela senhora de aliança que telefonava na padaria tão bonita e tão proibido? D. Celeste esperava? Ou no simples gosto de dizer: aqui respiro, acendo as minhas achas no ar, só-só, a senhora dos azulejos, a moça do «Trombetas»? Qual a cruz que carregava? Ninguém chegava? Ninguém a cumprimentava. Para ela vazia estava a rua ou vazios os seus olhos? Em vez de fogo, era gelo que ali queimava?
Pôs-se em marcha, mas ia aonde? O mapa do Cara-Longe, até aqui, exato, o miserável. (Mas não escaparás do gato morto). Por que não vai ela na Arcipreste, consolar a noiva do irmão, invejar o lustre do Desembargador? O certo é que a noiva nunca visitava a futura cunhada, futura até quando? D. Cecé enchia a boca de ter um irmão noivo da filha adotiva, única, do Desembargador Serra e Sousa e nunca ia visitar a noiva. Vá, visite a noiva perpétua, tire a moça do sofá de mogno e traga a educada no Colégio de Santa Catarina para dar um bordo pela Inocentes, o Belerofonte a pregar-lhe um rabo atrás, a 195 suspender-|lhe as saias... Ou tome o «Batista Campos» e vamos juntos olhar o parque, fanado parque, a estatuazinha nua que os passarinhos sujavam engraçado, vamos ouvir o que nos conta do antigo senador Lemos, do Governador Augusto Montenegro, se conheceu um dia a d. Inácia Alcântara. Entre, antes, nessa sapataria, mande arriar as mil caixas. experimente como senhora Mac-Donald. desespere os caixeiros, também confusos com o pé nu e insatisfeito. E eivém ela. Aí nessa farmácia compre veneno para o Belerofonte. Belerofonte é belo. Parece que está vai-não-vai para a Cidade Velha, tomará o «Bagé» que só vem de hora em hora; vá enfiar-se pelas velhas igrejas, sobradões, fazendo os seminaristas saltarem os olhos pelas grades das janelas. Chegue ao Porto do Sal, também no Porto do Sal encostam os navios da lama. Arsenal de Marinha, ali os oficiais lhe falarão do Vesúvio, Belerofonte é belo, debaixo daquele azul telhado de sol e nuvem. De repente, na esquina da João Alfredo, d. Cecé apanha um «Curro» bagageiro, Alfredo sem passagem, morcegando pelos balaustres, deixa este, alcança aquele, bondes correndo, o «Curro» lá na frente, e sempre mais na frente, alcançar, quem disse? Aquele desembestado! ah! ter uma arte aqui no estribo, um salto mágico... mas o condutor lhe piscou o olho, camarada, aqui ajuda a lavadeira a embarcar o saco de carvão, e chega no Reduto onde a d. Celeste, ora, graças, saltou. Vai na Madame Yara? Quereis fazer voltar à vossa companhia alguém que se tenha separado? Destruir algum malefício? Alcançar prosperidade? Curar vício de embriaguez de alguma pessoa? Alfredo mordeu o beiço, lançou fora o papelinho.
D. Celeste olhava na vitrina as ferragens do armazém, ou no vidro quase espelho se indagava: vou bonita? Vá, entre e encomende, por conta dos fretes do «Zéfiro» a placa «Passagem Mac-Donald». Parou, entendida em tábuas e vigas, olhou-que-olhou a estância de madeira, o tabuame, as serras serrando alto. Escolha a madeira para a sua casa de platibanda na Mac-Donald. Vá ver que ela entra no Íris, não, sessão só à noite, os cartazes, «O Homem-Leão» 3/4 episódios. Que porta vai abrir? Tem chave? E em casa, onde guarda a chave? A Quimera, de quem fala o 196 seu Antonino (Mata a Quimera, Belerofonte!), d. Cecé levava debaixo da saia? Parou na porta da chapeleira.
D. Celeste, uma e outra vez, saía de chapéu mas o seu menos velho cobriu a cabeça do «Pégaso», foi no cabo de vassoura, levado pelo Belerofonte para o fundo do quintal. Tinha uma pluma. Belerofonte é belo. Alfredo um minutinho se diverte. D. Celeste olhando na vitrina os chapéus. Uma noite, ela falou: gostava agora de botar um chapéu de aba bem larga, branco, que me fizesse sumir um pouco o rosto... A bordo, Alfredo ouviu de boca do Leônidas que o seu Antonino matou muita garça na antiga posse da mulher, e onças de pluma vendeu aos franceses, a bem alto preço a onça. Esse garçal era então um dos cuidados da d. Cecé: ah no Valha-me-Deus tem um garçal que só os anjos no paraíso. Ninguém me toque numa garça. Quando tiveram de entregar a posse aos credores, a pena da d. Cecé era de ter perdido o garçal. Daquela matança o marido nunca lhe informou. E de todo o garçal trouxe uma pluma para o chapéu da mulher, o dito que ornou a cabeça do porco. Antes de perder a posse, já não tinha uma só garça voando, uma que fosse. Ah, não, minto, restava, sim, aquela, que ali vai, sozinha e já sem pluma. D. Celeste defronta-se com a placa do dentista, formado em prótese nos Estados Unidos da América do Norte, o Dr. Riek. Dentista, soprou o Cara-Longe. Mas a passeante, neste minuto, passa por baixo das janelas da família Arcoverde onde, exatamente, debruçadas nas almofadas, com seus penteados e leques, suas pinturas e pulseiras, uma em cada janela, se encaixavam na moldura as três moças da família, donzelas de sua idades, louras de oxigênio. Durante o dia trabalhavam aquela toi!ete para estarem ali, na hora exata da tarde, a ver passar o bonde, o bonde olhando as três, Alfredo, de olho naquelas atrizes de janela, quase ia perdendo o rumo da sua caça. A errante entrou pela Piedade, desemboca na 15 de Agosto, some-se pela Manoel Barata, boiou nos Correios. Que se desatou nela que parece mais despachada, mais ligeira? Está no guichê do Posta Restante, Alfredo atento. Um mulato de óculos, mangas de camisa, vozeirão, troou um «não, não, não tem, minha senhora», depois 197 de suada e ruidosa busca pelos maços. Alfredo, estremecendo, escondeu-se entre uns sacos postais. D. Cecé fugiu ao vozeirão que lhe troava sempre «não, não, não tem, minha senhora».
Aqui fora, Alfredo notou em d. Celeste algo que o fez compadecido, confuso, culpado. Cara-Longe havia de receber pela verônica o gato morto. Desanimava um pouco seguir atrás de uma garça sem lago nem ao menos a lagoinha, aquela, que o sol secava em Cachoeira com a misteriosa mãe, a tartaruga, guardando o olho d’água. Por que seguir um tal passeio até agora na maior inocência? E o Posta Restante, de quem a carta que procurava? Eivém ela, desce a rampa da Quinze, rumo do Ver-o-Peso? Não, não, o Cais. Vai entrar primeiro na Alfândega? Meu Deus, o seu Virgílio Alcântara, na capatazia, a esta hora embrulha o jabá e o toucinho nos Diários Oficiais da União. Ao peso dos pelos sinais, terços e citações de Job, assenta-se o Porteiro, o sr. Albuquerque, sem saber o que mais ostentar, se a sua devoção, a autoridade ou o bem aparado bigode federal. Bastava um passo e Alfredo estaria com o seu padrinhorana, a saber da família. Ou vivia só, o gordo, num quartinho de fumo do Palácio das Musas, com o pesadelo daquele pardieiro na Estrada de Nazaré em cima de sua cacunda? Sim, sempre ganha a sua cacunda quem perde mulher, filho e para sempre a serra de Guaramiranga. Devia rondar o 160 ria Gentil, suspirando pelos domingos da mesa feita pela madrinha mãe, ah! mão de vaca ah! simples feijão com arroz e jabá gordo, madrinha mãe dos diabos. Graça era se a d. Celeste, conhecendo o seu Alcântara, fosse lá conversar, ali sentada sob a fala mansa do devoto e as mesuras do pelintra, e o gordo, este, de repente feliz porque na capatazia a d. Celeste fez aquele buraco de convento respirar Guaramiranga. Mas a d. Celeste não tem pena do velho, como eu, que não entro, duas vezes ingrato... receio indagar, ver que até a gordura, o velho perdeu; por onde a mãe e a filha andam? Ou saiu, de vez, para sempre, aquele santo cevado, da capatazia, demitido como um ladrão? D. Celeste vai direito ao cais. O «Trombetas» ela mandou contratar? É, contratou com 198 os bichos do fundo, ela sabe que anos o «Trombetas» navega mas debaixo das águas no Solimões.
Varou o portão do armazém n. 5, navio encostado, o «Monte Moreno». D. Celeste erra um pouco pela borda do cais, a ninguém se dirige, não vê ninguém a cega passeante. Abaixou-se a brincar com o gato branco-encardido como se estivesse achando enfim o que tanto procurava, um gato, este vivinho, não aquele no nariz do Cara-Longe. Mas foge-lhe das mãos o gato, esconde-se atrás de uns barris. Ela, embaraçada, mira os lados, agora fixa no rebocador «Conqueror» que ao largo passava a toda. «Conqueror»! Alfredo invejava. Ah ele ali dentro, mesmo na boca da fornalha, ao pé da chaminé, aquela, enorme para tão pouco tamanho do buque. Oh! hélice cavando as águas, estas de barro escumando, e poucas horas depois o «Conqueror» seria visto no balanço do mar alto, por Salinas, apitando para a barca-farol de Bragança, esta de velas altas, entre os biguanes, sossegados navios do oceano. Conqueror. Conqueror. Teu nome soou, uma noite, mágico, na varanda do chalé, saiu da boca do pai a falar dos rebocadores da barra. Conqueror. Era também parte do colégio, fundeava no carocinho de tucumã, Conqueror na valinha da rua, ao encontro dos peixes no rio, rebocando o velho jacaré. Conqueror para rebocar o chalé, rio abaixo, atravessando a baía, içá-lo até a montanha onde as janelas do colégio chamavam, chamavam... Grosso o fumo, a espuma que revolve, grosso bigode da frente, chato, pintado de chumbo, arrogante a chaminé, vem, joga o cabo, puxa daqui estazinha d. Cecé, tão leve de se puxar, de desencalhar, iça a dona para a barca-farol, faz parar o grande navio no meio do mar, e continência que vai entrando a bordo, debaixo das plumas, a senhora Mac-Donald. Na beira do cais, a d. Celeste espera, quem era o marinheiro? Olha, olha, mas olha, de olhar não se cansa nunca, seus olhos navegam mais que os navios. O banzeiro do «Conqueror» o Cais recebeu e parece espirrar alguma espuma nos pés (ou nos olhos), da passageira que perdeu a viagem, ou não sabe de seu marinheiro, aqui só, atrás dos olhos que navegavam. Quer ir na França reaver as plumas de seu garçal? Atrás dos barris, o gato miando. Na 199 esca|dinha chegava lancha. A «Lobato», a «Guilherme», a «Diamantina», a «Atatá»?
Da «Rio Anabiju» desembarca na cadeira uma doente bem mal, carregada por dois portugueses; aberto sobre a cadeira, com o sol em cima, o guarda-chuva armava um luto, e aqueles gemidos surdos, a família, muitas pessoas, faltas de sono e sossego, esta a mais moça, sempre ao lado da doente, furtiva se olhava ao espelho, reparava no seu sapato novo que rangia, ajeitou o cabelo, não sabia como combinar a aflição com a faceirice; mas um menino ao lado nada mais era que uns olhos danadinhos sobre a cidade, furiosos de impaciência e de secreta alegria, comendo a cidade, cobiça de saber, indagar, largar-se da doente, da família e correr de uma vez só em todas as direções de Belém. Ali sou eu de novo, Alfredo se falou. Um automóvel esperava. O cais descarregava a carga dos porões e doentes do interior. Desse longe, aguacento e sem fundo porão das Ilhas, Marajó Moju, Oeiras. O interior ardia em febre, a febre das doenças, e a outra febre dos meninos? Lá das bocas de rio, Alfredo via chegando velas, um vapor, chegando dos barrancos, vilas enjeitadinhas, trapiches, onde só atracava o paludismo. Se o pai ou a mãe chegassem na escadinha, na cadeira, desenganados, com o único gosto, ou remédio, o de se enterrarem em Belém? Em cemitério de cidade, só quatro anos, não pagou, tira os ossos, bota os ossos na desconforme goela, ah! pelo menos viverão sossegados os ossinhos de Maninha na terra que ninguém revira, só em cima flor ou, quando nada, juqueris, calangos gordos e passarinhos, uma e outra cobra, com todo o respeito, por ali, quieta. Mas a d. Celeste vai ao galpão Mosqueiro-Soure? Esperar o navio da linha? Dava tempo de ir e vir na mesma tarde, de alcançar de volta da praia do Chapéu Virado, o navio das seis? Nem num vôo podia quanto mais pecando. Não. Descansou um instante no banco, neste passo é para o largo das Mercês que a pobre garça vai.
Vem pela padre Prudêncio, com certeza pensando no largo da Pólvora, até parece mudar de vestido e de movimentos, é o sol, as sombras, o estar sozinha, é o seu caçador 200 atrás que lhe arranca as derradeiras penas. E ambos continuavam cada um com a sua solidão. Aqui Alfredo cisma soltar a sua garça; ia mesmo atrás da d. Cecé, ou do colégio perdido, a perdida Semíramis, o baile da Mãe Maria imaginado por essa tamanha desaparecida, a senhorita Andreza, faça uma idéia, cria das onças e dos búfalos? Ou por sentir-se em maior culpa, a rastrear espiando, duvida e não duvida da inocente? Ou por fadiga, ou é a lembrança de ver, ali a um passo, a casa de Nazaré onde morou, teria caldo? O pardieiro dos Alcântaras, a moradia que já não era o que foi, o que ainda era ainda é? Era um pulo, bastava cruzar aquele pedaço do largo da Pólvora... e sem saber, não quis, esmoreceu, ainda em pé o pardieiro? Ou restava a parede da frente, as janelas vazias, só a caveira da casa? Desviou-se para o largo da Trindade seguindo a d. Cecé, passa pela barbearia da esquina, aqui sempre lia jornais, a morte de Rui Barbosa, revistas, a exposição do Centenário no Rio, ah! quantas vezes. E contempla, a uma distância de d. Celeste, debaixo das palmeiras, a casa onde quis morar e não morou e nunca mais. A casa do padrinho Barbosa, tão grande e por ele tão desejada e lá não coube. Cada vez mais agachada junto ao palacete do Governador. Fechada-fechada. Escureceu mais nas paredes, na platibanda, descascavam-se os portais, teriam-se mudado? E o gramofone? O ganso? A tosse do padrinho? E aquela escada da porta onde talvez rolou bem menininho e logo subindo não pelos degraus mas pelo som da caixa de música lá de cima?
Mas foi distrair-se, meter-se na caixa de música e pronto! nem rastro, sumiu-se a d. Celeste chão a dentro? Na igreja, está não, como dizia a madrinha-mãe. Escapou pela Arcipreste? Em que bolso, de mágico, escondeu-se? Danados de automóveis, estes, que não deixam ninguém passar, muitos, só vão parando na porta do Palacete? Diabo, diabo, se bem andou, d. Celeste, a senhora pisa longe. Mas na Arcipreste? Serzedelo? Ou nalguma casa do largo, mas qual? nesta, naquela, sim, que de repente, fe-chou-se muito brusca uma aqui, de platibanda e veneziana, foi? De seu vôo nem um ar, de cheiro nem lembrança, onde 201 apa|nhar a caça, soltar os cachorros em cima? Inocente-inocente?
Alfredo correu-que-correu para o largo da Pólvora, deslizou pela macia calçada do Rotisserie, cego para os cartazes do Olímpia, rodeia o chafariz sem água, avistou: lá se vai, lá se vai, na sina de caminhar, já noutro lado, meio desfeita na sombra bem fechada das mangueiras. Subirá a São Jerônimo, renteando a Piedade ou vai sair nas baixas da Almirante Wandelkok? Nisto, ah, possível, impossível passar, ter de ficar retido que acontecia? Por que o encalhe, esse, de tanta gente na rua? Ter de ficar ao pé destas senhoras assustadas, do tamanqueiro, este, o gorducho com a enfiada de mucuãs? Partiram-lhe o caminho, separado o caçador da caça, que foi esta e tão de repente aglomeração sobe-não-sobe o terraço, na calçada das mangueiras. defronte do teatro, as bandeiras em punho? Fechou-se o rumo, apagou o rastro da d. Celeste. Ela agora, mais solta devia ir voando, por onde? Que procurava que não encontrava? Até quando a sua inocência e quando e onde a sua culpa? E este movimento, impossível romper o cerco, a tapagem, assim de supetão, eivém mais eivém mais, engrossou o cordão, aos lotes, um povo subindo da rampa da Quinze, espumando do Bulevar, Reduto, Manoel Barata, Santo Antônio... Em tão tamanha acumulação de pessoas que é que acontecia? Alfredo atrapalhou-se, engolido pela enchente, não sabia romper as malhas, cai num rebojo fundo, que tantas criaturas, procissão de santo não era, então que era, que era? Em vez de andor traziam aquele carro puxado por uma corda e lá em cima de fantasia a moça pintada de branco, no diadema escrito «A Liberdade», um carro de carnaval? Não, que os rostos vinham sérios, fechados, rostos muitos, o carro agora até lembrava a berlinda de Nossa Senhora de Nazaré; e aqui na placo-laco tamanqueando alto a quantidade de mulheres a levantar sobre as cabeças esta faixa: Somos cigarreiras. Alfredo é puxado pelo folharal de cabeças e punhos a entrar pelo jardim, invade o mictório que faz parte do antigo luxo da borracha, e ocupa os coretos, o caçador empurrado, espremido, lançado na calçada, adiante solto, sempre zonzo, de novo na proa 202 da aglomeração ao mesmo tempo desfeito na geral correnteza que o arroja para o colo das mulheres, estas, desinquietas, falantes abrindo a faixa:
COSTUREIRAS DA FABRICA ALIANÇA
Do rabo da enchente subiu um foguete, os bondes cessavam, e esta mulher, granduda, enrola as mangas, ajeita o cós, nuns sapatos enlameados, arrancou sobre o pedestal da estátua da República, gritou:
AS NOSSAS CRIANÇAS ESTÃO MORRENDO
ONDE ESTÃO OS DOUTORES DESTA CIDADE?
ONDE ESTÃO OS DOUTORES DESTA CIDADE?
Alfredo se lembrou do Cara-Longe, o que ouviu no Barão, na Generalíssimo, bem que espiou nos «quartos» de anjo, seu Lício deu alarme, sopravam pela cidade. A doença, que os doutores não davam nome, comia as criancinhas. Recuou noutro espanto, com o punho, roçando-lhe o nariz, de uma mulher, grávida, a voz rouca:
OS DOUTORES SÓ ESTÃO EM CONFERENCIA
SABER DA MOLÉSTIA SABEM? É FAZER DELES
E DOS DIPLOMAS DELES UMA FOGUEIRA SÓ!
SABER DA MOLÉSTIA SABEM? É FAZER DELES
E DOS DIPLOMAS DELES UMA FOGUEIRA SÓ!
Uma voz
Fogueira, sim, mas no meio da rua. O forno da Cremação apagou.
Fogueira, sim, mas no meio da rua. O forno da Cremação apagou.
A mulher grávida
Estou de sete meses. Vou ver meu filho saindo da minha barriga para a cova?
A primeira voz
Se o lixo acumula na cidade, assim também os títulos de doutor. Varrer primeiro o lixo das ciências e do governo. As podridões da cidade começam dentro do Palácio e nas casas limpas envernizadas.
A mulher grávida
Como deixar meti filho aqui dentro mais meses até que passe a peste? Ah conservar meu filho mais tempo ou sempre dentro da barriga para proteger ele do mundo e da morte!
203
A voz de outra mulher, o tamanco na mão,
havia rompido a alça
A voz de outra mulher, o tamanco na mão,
havia rompido a alça
Montões de lixo na cidade. Menos nas ruas dos ricos, nos tapetes, nos salões. Lá nos lindos berços não tem anjo. Tem de se varrer o lixo que por fora é limpo. A mosca que mata as nossas crianças sai deles, choca dentro deles, dos limpos por dentro podres.
Dentro das vozes, quase ladainha, Alfredo ao bafo e ranger daquela reclamação e raiva e súplica, girava entre as cigarreiras e costureiras no pedestal. Lá em cima, borrifada de bosta de passarinho, os peitaços de bronze, barrete e adornos duros, o facão contra a praça, a República olhava alto, surda. Alfredo via nas moças muita Libânia, muita Arlinda — nem uma delas a Irene? — as mães, umas barrigudas, o medo nos olhos, as mãos a proteger a prenhez ameaçada, e bocas, o colo, os braços, lembravam um pouco a mãe na noite de São Marçal, o rosto da mãe ao pé do fogão, coberta de cinza, chorando a morte de Maninha, (ou a morte do filho afogado?). O pedestal desbocava-se:
Dentro das vozes, quase ladainha, Alfredo ao bafo e ranger daquela reclamação e raiva e súplica, girava entre as cigarreiras e costureiras no pedestal. Lá em cima, borrifada de bosta de passarinho, os peitaços de bronze, barrete e adornos duros, o facão contra a praça, a República olhava alto, surda. Alfredo via nas moças muita Libânia, muita Arlinda — nem uma delas a Irene? — as mães, umas barrigudas, o medo nos olhos, as mãos a proteger a prenhez ameaçada, e bocas, o colo, os braços, lembravam um pouco a mãe na noite de São Marçal, o rosto da mãe ao pé do fogão, coberta de cinza, chorando a morte de Maninha, (ou a morte do filho afogado?). O pedestal desbocava-se:
CHEGA DE TANTO MORRER CRIANÇA!
CAVALOS PARA AS CARROÇAS DA LIMPEZA!
MANDEM CHAMAR AS BESTAS DO FARAÓ
ATRELEM OS DOUTORES!
CHAMEM UM SÁBIO DA ALEMANHA PARA SABER QUE DOENÇA É. O NOSSO IMPOSTO NÃO PAGA?
CAVALOS PARA AS CARROÇAS DA LIMPEZA!
MANDEM CHAMAR AS BESTAS DO FARAÓ
ATRELEM OS DOUTORES!
CHAMEM UM SÁBIO DA ALEMANHA PARA SABER QUE DOENÇA É. O NOSSO IMPOSTO NÃO PAGA?
Na rua zoaram vivas, um alarido, Alfredo precipitou-se no corre-corre, boiou na cauda que avançava da rampa diante do Café Vesúvio e lá de longe a primeira faixa grande, mal decifrava as letras, agora sim:
SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNILEIROS
Boquiaberto, Alfredo flechou o olhar: mas ali no estandarte, no centro, aquele retrato... Mas era! Era! O pai da prima Isaura, de Rui Barbosa, o funileiro. Estava no retrato a estória dos papéis que Isaura guardava, sempre tão secretos? Era o mesmo retrato da parede na porta e janela dos primos. O pai, que marcou a filha de um luto 204 que ela nunca tirou. E a outra faixa veio. tesa, na mão de homens que semelhavam pedreiros:
FEDERAÇÃO DAS CLASSES EM CONSTRUÇÃO CIVIL
Esta, enrugada, agora larga e atrevida:
UNIÃO DOS CALDEIREIROS DE FERRO
E as outras, onda de faixas, melhor salário, removam o lixo, salvem as crianças.
Salário? Alfredo acertou o passo dos caminhantes escuros de suor e graxa, pó, carvão e barro e irrompeu a tabuleta a zarcão, fechando:
Salário? Alfredo acertou o passo dos caminhantes escuros de suor e graxa, pó, carvão e barro e irrompeu a tabuleta a zarcão, fechando:
NÓS, OS COVEIROS DE SANTA ISABEL. SUSPENDEMOS
O TRABALHO! QUEREMOS PAGAMENTO E CHEGA DE
MORRER TANTA CRIANÇA.
O TRABALHO! QUEREMOS PAGAMENTO E CHEGA DE
MORRER TANTA CRIANÇA.
Montado nos seus espantos, Alfredo enfia-se no cerradal de gente, bateu num guri vendedor de pupunha, caiu o tabuleiro, os muitos pés em cima da pupunha, o pupunheiro atrás do culpado e este se escapuliu ouvindo o guri chorar alto que tinha de prestar conta, eu te pego, eu te pego... Alfredo, nem bem na calçada, viu-se arrastado até ao pé das novas mulheres que chegavam cheirando a cigarro, a curtume, a garrafas ,a roupa de costura, com seus distintivos e nomes, faziam botões, chapéus, cordas, sabonete, sabão, talco, bolacha, doces; diferentes da Areinha, não festejavam a mãe, os punhos contra os doutores, contra aquela República de facão no meio do jardim que pareciam ver pela primeira vez. Sempre fugindo ao pupunheiro, Alfredo navega por entre tantas criaturas que o intimidam e o atraem, quer tocar num casaco, pedir uma explicação, tão difícil indagar e atira os olhos no letreiro, pano branco, de piche as letras:
“OU ACABA A CHIBATA OU SE BOMBARDEIA A CIDADE!”
Bombardear? Onde os canhões? Couraçado no porto? A Marinha com eles? Estava entre aspas o letreiro 205 em piche. Arregalando os olhos, receando o pupunheiro (teve culpa?), que tanto acontecer de coisas, e este redemoinho, mais que um carnaval, um círio de vingança e guerra? Descobria uma cidade, desta ainda não sabia. desta só uns cochichos, o ano passado, na casa dos primos, e ali estava ela, o peito suado, fumegante, naqueles azulões e trapos, cal e tinta, Belém das caldeiras, da graxa, do ferro da cova... As bocas acesas, os punhos queimando, a cidade empunhava aquela bandeira encarnado e branco, pavilhão de pirata? Em vez da caveira, duas mãos que se apertavam e quem a carregava tinha no peito, nos braços, um cabelume de bicho, um cabelume molhado, faiscando ao sol.
A VOZ DO CABELUDO, EMPUNHANDO A BANDEIRA
Decifrem a doença ou a doença devora o que geramos. Marchemos sobre o Palácio, primeiro varrer aquela conferencia, varrer a canalha!
Canalha. Alfredo, baixinho, atrapalhado, repetiu. Canalha. Onde andava a madrinha mãe para puxar o coro:
Canalhas! Em plena rua, a sua palavra, madrinha mãe. E zonzeou com um protesto surdo: Mas custava enterrar os inocentes? Vão apodrecer na fila. Assim também é uma desumanidade. Alfredo hesita: ir a Santa Isabel ver? É longe o cemitério. Perto é a morte, entrando pelos berços, carregando, aos feixes, os mil recém-nascidos, O Cara-Longe rosnava na taberna: Foi decreto de Herodes. No meio dos condenadinhos o filho de Deus?
O mar arrebentava o pedestal, estouravam os oradores: Os coveiros querem ganhar mais e enterrar menos! Os eletricistas com as chaves dos transformadores podem apagar a luz da cidade? Só a diretoria de Londres pode resolver o caso dos salários da Pará Elétrica? Gentil Nunes! A tua palavra contra essa desconformidade! Deu a peste nas crianças! O bairro de Marco está escurecendo de moscas. É um escurecer em cima das panelas, mesas, berços, das bocas no sono. Ninguém em casa pode abrir boca. A 206 maldição caiu sobre a cidade? Nossa Senhora de Nazaré nos abandonou?
— Não blasfemes, mulher, que aqui não tem lugar para blasfêmia. Tudo isto aqui Deus vê.
— Deus? Deus é a liberdade, a igualdade, a justiça, o futuro, Deus lá no céu não tem. A única Nossa Senhora de Nazaré que pode nos valer é a nossa luta!
— Cruz, te arrenego, desce, ateu, ateu. Ateu, fecha tua boca. Que em tua boca entrem as moscas. credo! Deus te livre! De onde veio esse? Do inferno? Teu coração, eu sei, que é limpo, mas tua cabeça ferve, ateu! Deixem agora falar o ceará, o coveiro Nepomuceno.
— Sei falar não. Só sei cavar os nossos sete palmos. Mas já nos falta o folgo, vamos ficar debaixo do lixo, das moscas, nossas coveiras? Virgem de Nazaré, permita isso, não. Meu neto na Vila Teta está já de vela na mão, e o verdinho do meu compadre Gregoriano também. É o bafo neste mormaço, nestas chuvas, é o sopro do lixo amontoado, o ovo da mosca...
— É a vez da Maria de Deus!
Alfredo subiu um degrau no pedestal. Ia falar a costureira, a d. Maria de Deus. Ela esfregava o cangote grosso, pipocado, de boi, os beições roxeados rasgavam-se, embrabeceu a voz, batendo a praça. Alfredo admirou, achou aquela mulher, no primeiro momento feia, uma espécie braba de mãe, que mãe? Sabia? A cangote grosso ralhava, de trovejar, a República estremecia, recuando o fação diante do punho escuro e suado. Abaixo os fazedores de anjos! (Encontraria os primos da Rui Barbosa? Um era da oficina, outro da fábrica de calçados, sumidos neste palheiro). Agitavam-se as faixas, o sol descascava os rostos, esta moça, bogari no cabelo, o rosto melado, se abana de calor e raiva e se ouve: Covões! Dez anjinhos no Covões! Covões. Alfredo arrepiou-se com o Covões lhe abrindo o peito; por onde andava o pupunheiro com as suas pupunhas perdidas? Como vou te pagar, pupunheiro? E aqui esta bandeira da Imperial Sociedade Beneficente Artística Paraense no punho de uma cabocla de azul, um azul esgarçado e suado, o cabelo de crina, queixo de ovo, o sol nos saltados 207 gomos do rosto. Atrás as colegas, suando, algumas festeiras ,outras receosas, encabuladas, e as indiferentes, ali talvez arrependidas ou não entendiam, qual delas a moça da rua das Palhas que veio para a fábrica? A Palácio! Jogar aquela conferencia no lixo! A Palácio! O gordo, agitando o chapéu de palha, empapado de suor, lançou o dedo ao fação da República e Alfredo viu-lhe o anel grosso no dedo, desconfiou: Seu Lício? Seu Lício!
— Venham os bacuraus salvar as crianças. Os bacuraus. Só eles salvam.
E a Mãe Ciana? Atrás do pedestal, por certo, agachada, rezando, o cesto do cheiro-cheiroso, aos tombos e empurrões, ao pé de sua paixão, seu Lício, o sempre idolatrado. Espalhou os papelinhos de cheiro entre os anjos na Vila Teta e correu aqui para o pedestal sabendo que seu Lício aqui está, sem Deus nem um punhal, na boca do precipício?
Canalha. Alfredo, baixinho, atrapalhado, repetiu. Canalha. Onde andava a madrinha mãe para puxar o coro:
Canalhas! Em plena rua, a sua palavra, madrinha mãe. E zonzeou com um protesto surdo: Mas custava enterrar os inocentes? Vão apodrecer na fila. Assim também é uma desumanidade. Alfredo hesita: ir a Santa Isabel ver? É longe o cemitério. Perto é a morte, entrando pelos berços, carregando, aos feixes, os mil recém-nascidos, O Cara-Longe rosnava na taberna: Foi decreto de Herodes. No meio dos condenadinhos o filho de Deus?
O mar arrebentava o pedestal, estouravam os oradores: Os coveiros querem ganhar mais e enterrar menos! Os eletricistas com as chaves dos transformadores podem apagar a luz da cidade? Só a diretoria de Londres pode resolver o caso dos salários da Pará Elétrica? Gentil Nunes! A tua palavra contra essa desconformidade! Deu a peste nas crianças! O bairro de Marco está escurecendo de moscas. É um escurecer em cima das panelas, mesas, berços, das bocas no sono. Ninguém em casa pode abrir boca. A 206 maldição caiu sobre a cidade? Nossa Senhora de Nazaré nos abandonou?
— Não blasfemes, mulher, que aqui não tem lugar para blasfêmia. Tudo isto aqui Deus vê.
— Deus? Deus é a liberdade, a igualdade, a justiça, o futuro, Deus lá no céu não tem. A única Nossa Senhora de Nazaré que pode nos valer é a nossa luta!
— Cruz, te arrenego, desce, ateu, ateu. Ateu, fecha tua boca. Que em tua boca entrem as moscas. credo! Deus te livre! De onde veio esse? Do inferno? Teu coração, eu sei, que é limpo, mas tua cabeça ferve, ateu! Deixem agora falar o ceará, o coveiro Nepomuceno.
— Sei falar não. Só sei cavar os nossos sete palmos. Mas já nos falta o folgo, vamos ficar debaixo do lixo, das moscas, nossas coveiras? Virgem de Nazaré, permita isso, não. Meu neto na Vila Teta está já de vela na mão, e o verdinho do meu compadre Gregoriano também. É o bafo neste mormaço, nestas chuvas, é o sopro do lixo amontoado, o ovo da mosca...
— É a vez da Maria de Deus!
Alfredo subiu um degrau no pedestal. Ia falar a costureira, a d. Maria de Deus. Ela esfregava o cangote grosso, pipocado, de boi, os beições roxeados rasgavam-se, embrabeceu a voz, batendo a praça. Alfredo admirou, achou aquela mulher, no primeiro momento feia, uma espécie braba de mãe, que mãe? Sabia? A cangote grosso ralhava, de trovejar, a República estremecia, recuando o fação diante do punho escuro e suado. Abaixo os fazedores de anjos! (Encontraria os primos da Rui Barbosa? Um era da oficina, outro da fábrica de calçados, sumidos neste palheiro). Agitavam-se as faixas, o sol descascava os rostos, esta moça, bogari no cabelo, o rosto melado, se abana de calor e raiva e se ouve: Covões! Dez anjinhos no Covões! Covões. Alfredo arrepiou-se com o Covões lhe abrindo o peito; por onde andava o pupunheiro com as suas pupunhas perdidas? Como vou te pagar, pupunheiro? E aqui esta bandeira da Imperial Sociedade Beneficente Artística Paraense no punho de uma cabocla de azul, um azul esgarçado e suado, o cabelo de crina, queixo de ovo, o sol nos saltados 207 gomos do rosto. Atrás as colegas, suando, algumas festeiras ,outras receosas, encabuladas, e as indiferentes, ali talvez arrependidas ou não entendiam, qual delas a moça da rua das Palhas que veio para a fábrica? A Palácio! Jogar aquela conferencia no lixo! A Palácio! O gordo, agitando o chapéu de palha, empapado de suor, lançou o dedo ao fação da República e Alfredo viu-lhe o anel grosso no dedo, desconfiou: Seu Lício? Seu Lício!
— Venham os bacuraus salvar as crianças. Os bacuraus. Só eles salvam.
E a Mãe Ciana? Atrás do pedestal, por certo, agachada, rezando, o cesto do cheiro-cheiroso, aos tombos e empurrões, ao pé de sua paixão, seu Lício, o sempre idolatrado. Espalhou os papelinhos de cheiro entre os anjos na Vila Teta e correu aqui para o pedestal sabendo que seu Lício aqui está, sem Deus nem um punhal, na boca do precipício?
— O Herodes dessa matança, o Herodes desse decreto, mães, pais, irmãos, o Herodes? É o Capital! O Capital!
Alfredo morde o dedo, a unha no peito, a mão nas costas molhadas, quem? O Capital? Mais mistérios aqui que os da d. Celeste. O Capital? Nunca ouviu do pai no chalé definição de semelhante palavra assim disparada pelo seu Lício, um monstro Herodes? Das crianças morrerem, a culpa do Capital? Seu Lício não explicava. Só brandia sua valentia, correr o risco, andar no arame, neste espetáculo. Os ouvintes palmeavam, ou no repentino silêncio siriringavam burburinhos, A madrinha mãe, estivesse reboleando entre estas, saberia explicar? Seu Lício, gordo balofo, numa palidez a escorrer pela gente, disparava a palavra, senhor do pedestal:
— Meu compadre forneiro de fundição, conte, conte como expirou o meu afilhado Ismael. Me convidou para padrinho e fui eu mesmo que tive de batizar, no último alento, o pagão. Padre, quem disse? Onde ficaram, onde estão os padres? Abençoando a conferencia, arrastando a batina nos tapetes do Palácio? Encomendando os anjos na Basílica esta que quanto mais entra dinheiro aí que a obra nunca se acaba?
208 — Dos padres fale mas não da igreja, Lício!
— Agora é atiçar fogo no lixo, não nas moscas, mas...
Seu Lício suspendeu-se, queria ir até a República? Deu um arranco, reboou:
— Queimar o Estado! Não mais senhores!
Ia abaixo a República? O pedestal não cabia mais. Alfredo, moído nos apertões, entre os azedos da roupa geral, nos suores daquela cidade que o separou da d. Celeste. Seu Lício sermoneando, abria os braços, muito lívido no sol. Mas a Mãe Ciana, a tão amorosa dele, onde?
— Só o passarão maguari, conforme a lenda, pode levar os anjos no papo, salvando assim as crianças desta peste nas tripas? Chegou a hora de fazer o que os cabanos faziam com os seus inimigos. Capavam, dependuravam os grãos dos capados no pescoço das viúvas.
— Assim é atiçar guerra, Lício. Faça-se tudo com a mor.
— Amor?
Aqui Alfredo, no risco do seu Lício, riu-se também olhando o ameaçador fação da República. Amor? O amor da Mãe Ciana que ele enjeitou? Amor. Amor. A palavra nas gargantas secas, nas bocas pobres de dente e finas palavras, tristes, duras, que riam, distratavam. Onde rezas, Mãe Ciana?
— Capavam. Foi o dr. Raimundo, de Óbidos, que me contou. Capavam.
Alfredo olhou as mulheres — pareciam aprovar? Também para não ter mais inocentes direitinho para a cova? Queria puxar pela manga do seu Lício, este os punhos contra a República, a capar, malhar os grãos dos doutores. capar aquele bicho, que não tinha nos livros do Barão. ausente no chalé, por apelido O Capital.
— Te lembra, Lício, da nossa escola Ferrer, onde aprendestezinho um pouco.
— Sim. Gumercindo, me lembro, sim. Mas Ferrer foi arcabuzado nos fossos de uma fortaleza, foi-se água abaixo, rolou no fosso o amor... Aqui nem Tolstoi nem Allan Kardec. Varado de balas foi o Paulo Vítor, te lembra? A 209 prepotência usureira do Capital varou de bala o nosso Paulo Vítor. Amor? É a pau, a fogo e capando e rolando os barris de pólvora sobre o Palácio...
Seu Lício queria arrancar pelo pedestal a estátua da República, pelo povo carregada para por abaixo as portas do Palácio. Desceu, arquejando. E foi então que uma mulherzinha, ar de lavadeira, o rosto tintinguento, apossou-se do degrau:
— Já se deu um nome, já foi batizada a moléstia, O Intendente não é o dr. Tiago? Pois já se vem chamando em toda a cidade, lá no mercado, São Brás, na torneira, no terreiro do Chico na Pedreira, lá em Canudos, onde lavamos, no taberneiro... Batizou-se. É a tiaguite.
E foi geral, pegou fogo: Tempestuou em riso e vaia: Tiaguite! Tiaguite! Tiaguite! A peste nas crianças verdes. Em honra do sr. Intendente, que o dr. Tiago tenha a honra! Não dispensou os serviços da Cremação? O lixo não é pra estrumar a rua? Administrar é criar mosca? Tenha a glória de dar o seu nome! Tiaguite! No estalar das palmas, Alfredo se via pequenino, entre braços e pernas na praça de mil bocas. abaixou-se, queria fugir, e o pupunheiro? Aqui nestes paredões de gente, fácil era se esconder mas saindo lá fora, o pupunheiro na tocaia? Não por brigar, podia dar naquele magrinho, a não ser que ele soubesse capoeira... Culpa sua ter virado o tabuleiro? Inocente, brigava, mas, culpado? Se corresse na Rui Barbosa, pedisse à prima Isaura... No pedestal, debaixo do tiaguite! tiaguite! seu Lício pedia silêncio, apontava com o chapéu de palha:
— Senhores, meus irmãos, aí vem o nosso professor, o nosso engenheiro, que nunca esqueceu de nós. Aí vem quem sentou em banco de academia mas não se desdoura de vir aqui roçar seu paletó nos nossos cotovelos. Deixem passar, abram alas para o mestre. fie tem a treva nos olhos mas a luz no coração.
Alfredo seguiu o velho alto, de bengala, carão branco, óculos pretos, guiado por um rapaz, estava todo de escuro, uns bigodes amarelaços caíam-lhe pela boca, um beiço rosado. Ao tirar o chapéu, soltou-se atrás a sobra de uma 210 antiga cabeleira de maestro, Em toda aquela figura Alfredo via a Bíblia, de que falava o pai, o cego foi subindo com a sua bengala e o guia, agora amparado por muitos, muitos murmuravam: é o doutor Moura, o doutor Moura, é o doutor Moura. No pedestal, o dr. Moura acenou, pôs um sossego, seu Lício aprovava, cabisbaixo, o palhinha no sovaco. Alfredo, abotoa, desabotoa a blusa, suspendeu-se naquele vozeirão, uns longes de um mugido correndo fundo em redor do parque. Miudinho entre as moças cigarreiras atochadas ali, de queixo na mão, os pés desassossegados, Alfredo se encostou numa que lhe deu um pedaço de gergelim, também passou-lhe a mão pela cabeça, segredou: E tu, onde tu trabalhas? Onde?
O vozeirão trazia os fiéis em suspenso, até que o cego apoiou-se na bengala ,o rapaz enxugou-lhe a testa — terminava:
— Segundo o Eclesiastes, o proveito da terra é para todos.
... Também a pedra estremecerá de alegria no dia em que...
Alfredo não pôde escutar o resto, confuso, com o chuveral das palmas, no braço dele a moça enfiava a mão suada. Mais que a mãe, Belém eram muitas? Estou rapaz? Desceu o cego entre o palmear longo e os muitos vivas, hesitou, quis voltar como se tivesse esquecido de dizer ainda alguma coisa, o rapaz lhe deu o rumo, atiraram uma flor. E com ele foi Alfredo — se perdeu da moça — meteu-se no ajuntamento ao pé do bonde, mulheres no estribo estendiam uma saia feita de papel, gritavam:
— Ou o sr. pára o bonde ou veste esta saia, seu motorneiro.
— Uai, as mulheres viraram dragão?
— Usando falsidade com seus companheiros? Então use, use a saia!
— Então vira o bonde, queima, queima! Te gruda com os doutores no palácio. Veste a saia, veste a saia!
Parado o bonde, as mulheres e com elas o Alfredo enfiaram pelo jardim, correram para o pedestal na hora em 211 que subia um baixinho de barba cerrada, tão pálido, com uma perna de pau, o gorro preto na mão, acenando. Aqui embaixo, Alfredo escutou: perdeu a perna numa luta em Paris. É um sapateiro espanhol. Para esse aí, observou Alfredo, esse perna de pau, coitado, só morando num oratório. A barba é ver uma pintura. Vai matar as moscas com a perna de pau? Partir com a perna-de-pau a cabeça do Herodes, o Capital? Alfredo não atinava, em meio da vertigem, a cidade, esta outra, quantas? o aturdia, sim. Os primos ali estavam, onde? Se os procurasse? E quem sabe já não chegava, lá pela cabeça ou rabo do tamanho povo, não chegava a Magá, a tacacazeira, sabedora de adivinhas, a mãe deles, a mãe da prima Isaura, viuva do funileiro que tinha o retrato no estandarte?
— Mais, Marrocos! Tu já perdeste uma perna, mas não perdeste a voz. Abre o teu e o nosso coração, espanhol.
E pelas orelhas de Alfredo: perdeu a perna por um ideal. Experimentaram bombas no Entroncamento foi? Um ideal? Bombas? um ideal? Na boca o gosto de gergelim. Um ideal? Bombas no Entroncamento? Seu pai no chalé falou que seu Lício lhe pediu para fazer bombas, foi, não foi? Por onde anda a moça do gergelim? «É um orador competente tem fogo na goela, não deixa o almoço pro jantar, murmurou um velho de macacão cor de lodo, batendo o cachimbo no joelho.
— Quando o Rei Umberto foi levado para as profundas por uma bomba.
— Que Rei? França, Itália, Portugal?
— ... quando esse rei morreu, fiz urna festa com música na porta da minha tenda de sapateiro.
Então que pegou fogo, foi o haver das faixas em cima, um tanto bater de palmas, o longo vozear — tiaguite! tiaguite! — e cai no ombro a mão da moça do gergelim: se perdeu de mim? ela indagou, tão cuidadosa. Nos pés a chinela trançada, os tornozelos finos, desta vez comia o último gomo de uma laranja, fez sinal de pena por não ter mais, piscou como quem consola e promete, enxugou o rosto na barra do vestido e aquela renda alvinha Alfredo via, viu 212 e lhe deu nele inteiro um silêncio por dentro, a modo que muito s6 ficou, tudo o mais não existia e no aperto do pessoal aí! reclamou ela e virou-se para o Alfredo, desfranzida, os dentes abriam um claro macio calmo no rosto que o sol em vez de embranquecer, dourava. E a mão dela no alto colheu a laranja descascada atirada lá detrás por alguém, Alfredo sumiu-se, escondeu-se neste ponto a ouvir o Marrocos que nunca mais acabava. Assustado, fugitivo, entre a renda e as vozes do pedestal, Alfredo ia, vinha, e lhe soou: Alaíde! Alaíde! Alfredo saltou para onde gritavam, Alaíde, toou este nome no chalé, a mãe contava, uma Alaíde de Ponta de Pedras, que viajou numa curicaca, na costa de Soure, levada por Manoel Coutinho, apelido Missunga, depois vista numa fábrica em Belém, a mãe contou. Alaíde! E não ouviu mais, nem a viu, por certo naquele bando a carregar estandarte, a trancar bonde, com um bordo pelo terraço do Grande Hotel. E o Marrocos falando:
— Quando o Lemos levantou o imposto das carroças, os carreiros suspenderam o serviço onze dias. Os soldados de cavalaria cortaram as orelhas de um carreiro da Fábrica Palmeira. Mas os carreiros mataram um soldado. E aqui mostro o emblema do meu ideal, aqui a estréia da fraternidade, da igualdade, a estrela...
Alfredo olhou a estrela acendendo-se nos quantos olhos, no abanar das palmas, e a laranja da moça, e a renda alvinha, e o rosto que se ergueu da saia, enxuto e o ai! quando a pisaram, se perdeu?
— ... de bordo quando me deportaram desta terra eu disse, repito agora: voltarei porque a revolução avança sempre. Escrevi isto na «Comuna do Porto», jornal de que sou correspondente. O navio em que vou, volta. Voltei ou não voltei?
— Voltaste, sim, Marrocos. Tens ainda uma perna, tens ainda uma perna.
— ... e voltei com uma porção de livros no baú que e polícia me tomou e jogou no forno da Cremação.
— ... para livro tem sempre fogo na Cremação.
213 — ... enterrar debaixo do lixo aquela conferência e o Estado!
No mesmo aturdimento, que é Estado? Qual faz de conta fazia. o carocinho para salvar as crianças, mover a Cremação?. E se um dia eu acho a Andreza e conto o que vi aqui, ela o dedo no meu nariz, dizei dizia: men-ti-roso, seu mentiroso, morde aqui se isso foi certo. E topa o cartaz: «Estamos no século do operário (Gladstone)». Gladstone?. E vizinho se espalhava: o vasilhame do lixo amontoado em São Brás, mais enterros de criança e com os coveiros sem cavarem. E o dever cristão, e o dever cristão? Que aconselham os terreiros e os experientes? A sede da U.G.T. atopetada, trabalhador demais, o Cais parou? o Val-de-Cans, também? se fala dos marinheiros da Flotilha... Nem bem ouviu, já Alfredo era sacudido no arrebentar de um espanto geral um alvoroçamento na praça ao grito: O Governo Federal acaba de fechar a União Geral dos Trabalhadores! Chegou telegrama! Para a sede! Para a sede! Para a Dr. Morais! E aquele corpo de gente se movimentou, rodou, Alfredo de bubuia no arremesso rumo da sede, espalhando-se pela Piedade, São Jerônimo, ganharam a Dr. Morais, os espalhados se juntavam, de novo o corpo se unia e colava os mil pés e mãos e bocas...
E agora, no mais calmo, na aba dos caminhantes mais vagarosos, Alfredo ouvia: Estão reunidos em Palácio o Governador, o Comandante da Região, o Inspetor do Arsenal, o Comandante da Flotilha do Amazonas, o Secretário Geral do Estado, o Comandante da Brigada Militar, o presidente da Câmara, o gerente Binns, o Intendente Tiago, o Desembargador Chefe de Polícia...
— Os doutores noutro salão conferenciam. Vão curar a doença mandando carregar as armas contra as mães?
As mães? Alfredo via entre estas a dele, as mães na mesma aflição, e no meio delas, quando que tinha a Virgem Maria, o São José e o menino... Cara-Longe se fantasiava de Herodes e Sardanapalo no carnaval, assim contavam. Mas falou a verdade: as moscas descem, sobem os anjos, as carroças da Limpeza sem cavalo ou boi que puxe.
D. Celeste teria voltado? Ah quarta-feira! Na Inocentes 214 já pretejava de mosca, sim. Também debaixo das moscas, a família gorda — o pai, a mãe, a filha — junta ou separados? Iam morrer as primeiras criancinhas da Passagem. Que sei de tudo isto? Que é que as professoras vão explicar no Barão? Ou não vão saber? Pamplona, Lamarão, Rebelinho, vão saber? Esta hora a professora Maria Loureiro Miranda corrige provas ou toma o seu banho dentro da bacia verde de cheiros... Em que altura caminha a moça do gergelim e da laranja? Ainda na boca o gosto do gergelim. «E tu, onde tu trabalhas», segredou tão irmãzinha, o hálito de gergelim, o beiço devia estar bem doce. Nos Covões, morava? Nalguma Passagem? E eu saí rapaz? Por onde está vagando a garça depenada? Que sede, agora, da laranja. Castigai eles, anjo Gabriel, gemeu uma velha a arrastar as pernas, na mão o rosário. Convidava para uma procissão, no Jurunas, da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro correndo o bairro. Entre os ficantes tão atrás, Alfredo, cansado, quis fugir, bastava um pulo, era por medo? Aqui quem me agarra? Vou chegar muito tarde? Mas a Mãe Ciana, o espanhol perna-de-pau com as suas muletas, a moça do gergelim? Eu ainda menino? Viu-se no miolo da caminhada, iam embora num zoar de cantoreio e passeata, a cidade escurecia, os bondes mortos na rua e um montão de lixo fumaçando, escurecia tão depressa, ou era mosca? Que canção cantavam? Lá na cabeça as faixas e bandeiras balizavam puxando o navio, pegou mais força, que canção cantavam? De repente um estouro eivém as éguas do carro do faraó! foi o seu Lício gritando lá na frente no rosto da marcha que despencou espalhou-se valei-me! do chão gritavam é a cavalaria é a cavalaria é a cavalaria! quem que acode as criaturas? viu a espada um estampido escureceu inteiro no vozerio agora longe Alfredo fugindo pelo capinzal noite bem noite e parou para um fôlego um sapo dizia oi.
Teve de entrar pela Curuçá, a taberna fechada. Por horas mortas aquela garganta virava o Cão, quase no meio a tendinha de café, a talhada de ananás ou peixe frito, ali 215 o escuro, o relumeio dos cigarros, o giro de uma saia, uma perna, o ombro penso clareado no piscar da lamparina, a garrafa, um rosto, apagou-se, o falar baixo de fumo e cuspo e que homem agachado, aquele, ao pé da tenda de onde saiu fofa a risada quase silenciosa? Enroscada na sombra aquela outra, o cachimbo aceso. No bafo a lama e o escuro um cheiro de talco e peixe. Aqui é o macho e fêmea. Pareceu o Espantalho da esquina ali no breu? De dia não se vê a tenda, desarmam? Então é só meia-noite o arraial? Esta Passagem! Ter de passar aqui, tão sem fôlego, cortado pelo capinzal, o oi do sapo no ouvido feito um búzio e aqui a mulher vem, roçou a ilharga, lhe baforou na orelha. Na garganta, é isto meia-noite, Fosse tirar o mapa da Inocentes, saía desenhado um monstro. Já principiam aqui a morrer as criancinhas? Melhor passar correndo por esta barraquinha acesa, na salinha o anjo... As moscas voando na meia-noite. Tiaguite, cansado, um gole d’água queria. um torrão de açúcar, a rede. As pernas bambeiam, risco de cair neste chão, as moscas em cima, eivem o berro do seu Lício: as éguas... Outra barraquinha acesa? Alguém sai depressa. Atrás de vela? Na pata do cavalo a moça do gergelim e renda alvinha? Valei-me! do chão gritavam. Marrocos, a outra perna, perdeu? Vamos entrarzinho sem barulho, antes puxar um fôlego, ah gole d’água... Entrar espantado, correndo de visagem, não. Muito muito mansinho, na porta correram o trinco? Entra-se pela d. Romana? Não, a porta encostada.
E no que entra, não é que vem também chegando a d. Celeste, tão tarde também? Veio pela esquina do Espantalho e assim aparecendo de repente trazia uma especial formosura que até sossego dava. Os dois juntos e os recebeu o berro, Belerofonte saltava de camisão: Arlinda tinha fugido, levado o Pégaso.
Alfredo correu na d. Romana que muito calma estoriava: um piquete de cavalaria assalta a Passagem, só faltou entrar cavalo adentro pela barraquinha onde está seu filho? onde está seu filho?» carregando livros e entre estes a Gramática, a Antologia, a Álgebra que a normalista atrás dos cavalarianos gritava que devolvessem. Do filho, o 216 caldeireiro, d. Romana não sabia. Por vê-la tão calma. Alfredo se acalmou também, um pouquinho. fazendo-lhe companhia. Tão sem sangue no rosto o caldeireiro, a cera em pessoa vestindo o fumo da fornalha. Sossegado o Belerofonte, d. Celeste apareceu contando: Arlinda havia sumido com dois vestidos da mala, a velha. Alfredo num pulo (mas levou? Foi? tão satisfeito que não sustentou o olhar com a d. Celeste. D. Romana num ar de rir, que mãe calma! Duas pessoas de Curuçá, d. Cecé falava, lhe vieram pedir pano para forrar o caixãozinho de um anjo, outra uma roupa prum doentinho já de vela na mão, Que pano senão de seus vestidos velhos? Do que sobrava — Belero a destruir um por dia — do que sobrava. Alfredo correu e foi abrir a mala: funda, um resto de roupa pisada, o corpinho roto, retalhos, o cabelinho perdido de uma boneca, O cheiro sempre, o cheiro das noites de d. Celeste, o cheiro da fuga a bordo. No cabide o vestido do passeio. Alfredo cheirou-o, como se quisesse adivinhar. Andou pelo quintal e farrapos de seda e gorgorão lembravam o «Pégaso», o cabo de vassoura de Belerofonte, as tochas molhadas no querosene ardendo na galinha, no topo da cerca. Belerofonte é belo. Mata a Quimera, Belerofonte. Alfredo voltou para a conversa na vizinha:
— Vou, sim, d. Romana. Vou alisar os meus azulejos. Aqui que fico? Antonino Emiliano me falou que vai para a Guiana, Amapá, Costa Negra, sei lá, num barco, chegou a dizer que me traz uma coroa de diamantes. Nunca ouvi dele uma tamanha coisa. Já não me basta esta? Espero mas sentada no meu sobrado. Meu irmão, coitado, aquela mão de fada na tesoura, mas nem do noivado deu conta. Chega e vai saindo para o enterro da noiva. Não soube? Pois agora mesmo li o cartão de comunicação do Desembargador que o Antonino me deixou em cima da mala velha. Não sabia que Amarílis estava assim tão mal, Leônidas deve chegar esta madrugada. Antonino foi para o «quarto».
Alfredo reparou o cuidado do marido em deixar o cartão onde a mulher, infalível, ia tocar, abrir.
— Mas a senhora, d. Romana, ah nem parece. A cavalaria entrou trazendo as moscaradas. Que nem um 217 demônio, não? É o único adiantamento da Passagem entrar a cavalaria. A. placa, até agora. O progresso é mosca e anjo morrendo, Alfredo pasmo: no seu nenhum espanto, d. Celeste que escondia? Morte de noiva do irmão, chegando da rua àquela hora, fuga de Arlinda, a mala vazia, a cavalaria, a muda, calma aflição da d. Romana, em tudo a d. Celeste até que achava entretimento?
— Uma coisa juro: desta nem um puxão de orelha aquela Arlinda levou de lembrança. De mim, jamais. Pra senhora, d. Romana, ela não lhe falou nada-nada?
— A senhora vai pros seus azulejos, não?
Alfredo mordeu o beiço com a sua zombaria sem dó. A esta hora nenhum azulejo mais no velho sobrado que o marido desmanchava. A velha arca com as coisas de seu valor, ali deixadas, trancadas, para uso em dezembro só, coisas que faziam parte da senhora Celeste passando fim do ano em Muaná, na parecença do tempo antigo, tudo, tudo o marido transformava em viagem em busca da coroa de diamantes.
— É o que me coube, primo. Aqueles ninguém me tira. Só o que me restou de toda esta ... ao menos lá descanso. Faço de conta que sou...
Interrompeu-se a acudir a d. Romana que a modo sentiu uma tontura, logo passou. Vinha chegando a normalista com seus livros. A Álgebra, de capa cortada, na gramática rompida a página 68. Atrás o namorado, um mulato pintoso, cabelo engordurado bem passado, anelão, sapato preto e branco, mata-mosquito da Febre Amarela.
Alfredo caiu na rede, virou-se que virou-se, cadê o homem para acudir a moça do gergelim, a Mãe Ciana, a dar notícia dos primos na Rui Barbosa? Do caldeireiro, que se sabia? Este, sim, fazia inveja. Da raça do pai de Isaura, o funileiro? Do Jerônimo, o tuxaua dos roceiros no Guamá?
Cabeça no ar, cadê sossego. sono, quem disse? No corpo doendo zumbia o largo da Pólvora, disparava a cavalaria, o porquinho batendo as asas com a Arlinda em 218 cima, ah consolação: Arlinda voando para o seu rio. Escutava os passos da d. Celeste pela barraca, no jirau os tajás bebiam a, água em que foi lavada a carne da janta. A mesma passeante. Abria fechava abria a mala. D. Romana partindo lenha a esta hora? Ainda com o seu Febre Amarela a normalista? De repente a voz da moça pela cerca, cozinha, corredor, chamando a d. Cecé.
— Já vou, vizinha, notícia do mano?
— Ainda não, senhora. A senhora tem goma arábica? Ó, Alfredo, mas já dormindo? Que faz o único homem agora nas duas casas que não está de sentinela?
— Dobre a língua. Único, não, e meu filho? Se bem que esteja sonhando em botar o facho aceso no rabo do «Pégaso».
A normalista debruçou-se na rede de Alfredo e derramou sobre o rosto fingidamente adormecido todo o seu longo cabelo solto cheirando a mutamba. Alfredo fez que repeliu, pulou, esfregando os olhos.
— Agora tu não gostas, meu filho. Amanhã é chorando para que alguém te faça justamente isto, mas babau, adeus que te acontece.
Era d. Celeste e também a dizer que não tinha goma arábica. As duas saíam para o quintal e se viraram à voz de Alfredo:
— É o Leônidas, d. Celeste.
Alfredo morde o dedo, a unha no peito, a mão nas costas molhadas, quem? O Capital? Mais mistérios aqui que os da d. Celeste. O Capital? Nunca ouviu do pai no chalé definição de semelhante palavra assim disparada pelo seu Lício, um monstro Herodes? Das crianças morrerem, a culpa do Capital? Seu Lício não explicava. Só brandia sua valentia, correr o risco, andar no arame, neste espetáculo. Os ouvintes palmeavam, ou no repentino silêncio siriringavam burburinhos, A madrinha mãe, estivesse reboleando entre estas, saberia explicar? Seu Lício, gordo balofo, numa palidez a escorrer pela gente, disparava a palavra, senhor do pedestal:
— Meu compadre forneiro de fundição, conte, conte como expirou o meu afilhado Ismael. Me convidou para padrinho e fui eu mesmo que tive de batizar, no último alento, o pagão. Padre, quem disse? Onde ficaram, onde estão os padres? Abençoando a conferencia, arrastando a batina nos tapetes do Palácio? Encomendando os anjos na Basílica esta que quanto mais entra dinheiro aí que a obra nunca se acaba?
208 — Dos padres fale mas não da igreja, Lício!
— Agora é atiçar fogo no lixo, não nas moscas, mas...
Seu Lício suspendeu-se, queria ir até a República? Deu um arranco, reboou:
— Queimar o Estado! Não mais senhores!
Ia abaixo a República? O pedestal não cabia mais. Alfredo, moído nos apertões, entre os azedos da roupa geral, nos suores daquela cidade que o separou da d. Celeste. Seu Lício sermoneando, abria os braços, muito lívido no sol. Mas a Mãe Ciana, a tão amorosa dele, onde?
— Só o passarão maguari, conforme a lenda, pode levar os anjos no papo, salvando assim as crianças desta peste nas tripas? Chegou a hora de fazer o que os cabanos faziam com os seus inimigos. Capavam, dependuravam os grãos dos capados no pescoço das viúvas.
— Assim é atiçar guerra, Lício. Faça-se tudo com a mor.
— Amor?
Aqui Alfredo, no risco do seu Lício, riu-se também olhando o ameaçador fação da República. Amor? O amor da Mãe Ciana que ele enjeitou? Amor. Amor. A palavra nas gargantas secas, nas bocas pobres de dente e finas palavras, tristes, duras, que riam, distratavam. Onde rezas, Mãe Ciana?
— Capavam. Foi o dr. Raimundo, de Óbidos, que me contou. Capavam.
Alfredo olhou as mulheres — pareciam aprovar? Também para não ter mais inocentes direitinho para a cova? Queria puxar pela manga do seu Lício, este os punhos contra a República, a capar, malhar os grãos dos doutores. capar aquele bicho, que não tinha nos livros do Barão. ausente no chalé, por apelido O Capital.
— Te lembra, Lício, da nossa escola Ferrer, onde aprendestezinho um pouco.
— Sim. Gumercindo, me lembro, sim. Mas Ferrer foi arcabuzado nos fossos de uma fortaleza, foi-se água abaixo, rolou no fosso o amor... Aqui nem Tolstoi nem Allan Kardec. Varado de balas foi o Paulo Vítor, te lembra? A 209 prepotência usureira do Capital varou de bala o nosso Paulo Vítor. Amor? É a pau, a fogo e capando e rolando os barris de pólvora sobre o Palácio...
Seu Lício queria arrancar pelo pedestal a estátua da República, pelo povo carregada para por abaixo as portas do Palácio. Desceu, arquejando. E foi então que uma mulherzinha, ar de lavadeira, o rosto tintinguento, apossou-se do degrau:
— Já se deu um nome, já foi batizada a moléstia, O Intendente não é o dr. Tiago? Pois já se vem chamando em toda a cidade, lá no mercado, São Brás, na torneira, no terreiro do Chico na Pedreira, lá em Canudos, onde lavamos, no taberneiro... Batizou-se. É a tiaguite.
E foi geral, pegou fogo: Tempestuou em riso e vaia: Tiaguite! Tiaguite! Tiaguite! A peste nas crianças verdes. Em honra do sr. Intendente, que o dr. Tiago tenha a honra! Não dispensou os serviços da Cremação? O lixo não é pra estrumar a rua? Administrar é criar mosca? Tenha a glória de dar o seu nome! Tiaguite! No estalar das palmas, Alfredo se via pequenino, entre braços e pernas na praça de mil bocas. abaixou-se, queria fugir, e o pupunheiro? Aqui nestes paredões de gente, fácil era se esconder mas saindo lá fora, o pupunheiro na tocaia? Não por brigar, podia dar naquele magrinho, a não ser que ele soubesse capoeira... Culpa sua ter virado o tabuleiro? Inocente, brigava, mas, culpado? Se corresse na Rui Barbosa, pedisse à prima Isaura... No pedestal, debaixo do tiaguite! tiaguite! seu Lício pedia silêncio, apontava com o chapéu de palha:
— Senhores, meus irmãos, aí vem o nosso professor, o nosso engenheiro, que nunca esqueceu de nós. Aí vem quem sentou em banco de academia mas não se desdoura de vir aqui roçar seu paletó nos nossos cotovelos. Deixem passar, abram alas para o mestre. fie tem a treva nos olhos mas a luz no coração.
Alfredo seguiu o velho alto, de bengala, carão branco, óculos pretos, guiado por um rapaz, estava todo de escuro, uns bigodes amarelaços caíam-lhe pela boca, um beiço rosado. Ao tirar o chapéu, soltou-se atrás a sobra de uma 210 antiga cabeleira de maestro, Em toda aquela figura Alfredo via a Bíblia, de que falava o pai, o cego foi subindo com a sua bengala e o guia, agora amparado por muitos, muitos murmuravam: é o doutor Moura, o doutor Moura, é o doutor Moura. No pedestal, o dr. Moura acenou, pôs um sossego, seu Lício aprovava, cabisbaixo, o palhinha no sovaco. Alfredo, abotoa, desabotoa a blusa, suspendeu-se naquele vozeirão, uns longes de um mugido correndo fundo em redor do parque. Miudinho entre as moças cigarreiras atochadas ali, de queixo na mão, os pés desassossegados, Alfredo se encostou numa que lhe deu um pedaço de gergelim, também passou-lhe a mão pela cabeça, segredou: E tu, onde tu trabalhas? Onde?
O vozeirão trazia os fiéis em suspenso, até que o cego apoiou-se na bengala ,o rapaz enxugou-lhe a testa — terminava:
— Segundo o Eclesiastes, o proveito da terra é para todos.
... Também a pedra estremecerá de alegria no dia em que...
Alfredo não pôde escutar o resto, confuso, com o chuveral das palmas, no braço dele a moça enfiava a mão suada. Mais que a mãe, Belém eram muitas? Estou rapaz? Desceu o cego entre o palmear longo e os muitos vivas, hesitou, quis voltar como se tivesse esquecido de dizer ainda alguma coisa, o rapaz lhe deu o rumo, atiraram uma flor. E com ele foi Alfredo — se perdeu da moça — meteu-se no ajuntamento ao pé do bonde, mulheres no estribo estendiam uma saia feita de papel, gritavam:
— Ou o sr. pára o bonde ou veste esta saia, seu motorneiro.
— Uai, as mulheres viraram dragão?
— Usando falsidade com seus companheiros? Então use, use a saia!
— Então vira o bonde, queima, queima! Te gruda com os doutores no palácio. Veste a saia, veste a saia!
Parado o bonde, as mulheres e com elas o Alfredo enfiaram pelo jardim, correram para o pedestal na hora em 211 que subia um baixinho de barba cerrada, tão pálido, com uma perna de pau, o gorro preto na mão, acenando. Aqui embaixo, Alfredo escutou: perdeu a perna numa luta em Paris. É um sapateiro espanhol. Para esse aí, observou Alfredo, esse perna de pau, coitado, só morando num oratório. A barba é ver uma pintura. Vai matar as moscas com a perna de pau? Partir com a perna-de-pau a cabeça do Herodes, o Capital? Alfredo não atinava, em meio da vertigem, a cidade, esta outra, quantas? o aturdia, sim. Os primos ali estavam, onde? Se os procurasse? E quem sabe já não chegava, lá pela cabeça ou rabo do tamanho povo, não chegava a Magá, a tacacazeira, sabedora de adivinhas, a mãe deles, a mãe da prima Isaura, viuva do funileiro que tinha o retrato no estandarte?
— Mais, Marrocos! Tu já perdeste uma perna, mas não perdeste a voz. Abre o teu e o nosso coração, espanhol.
E pelas orelhas de Alfredo: perdeu a perna por um ideal. Experimentaram bombas no Entroncamento foi? Um ideal? Bombas? um ideal? Na boca o gosto de gergelim. Um ideal? Bombas no Entroncamento? Seu pai no chalé falou que seu Lício lhe pediu para fazer bombas, foi, não foi? Por onde anda a moça do gergelim? «É um orador competente tem fogo na goela, não deixa o almoço pro jantar, murmurou um velho de macacão cor de lodo, batendo o cachimbo no joelho.
— Quando o Rei Umberto foi levado para as profundas por uma bomba.
— Que Rei? França, Itália, Portugal?
— ... quando esse rei morreu, fiz urna festa com música na porta da minha tenda de sapateiro.
Então que pegou fogo, foi o haver das faixas em cima, um tanto bater de palmas, o longo vozear — tiaguite! tiaguite! — e cai no ombro a mão da moça do gergelim: se perdeu de mim? ela indagou, tão cuidadosa. Nos pés a chinela trançada, os tornozelos finos, desta vez comia o último gomo de uma laranja, fez sinal de pena por não ter mais, piscou como quem consola e promete, enxugou o rosto na barra do vestido e aquela renda alvinha Alfredo via, viu 212 e lhe deu nele inteiro um silêncio por dentro, a modo que muito s6 ficou, tudo o mais não existia e no aperto do pessoal aí! reclamou ela e virou-se para o Alfredo, desfranzida, os dentes abriam um claro macio calmo no rosto que o sol em vez de embranquecer, dourava. E a mão dela no alto colheu a laranja descascada atirada lá detrás por alguém, Alfredo sumiu-se, escondeu-se neste ponto a ouvir o Marrocos que nunca mais acabava. Assustado, fugitivo, entre a renda e as vozes do pedestal, Alfredo ia, vinha, e lhe soou: Alaíde! Alaíde! Alfredo saltou para onde gritavam, Alaíde, toou este nome no chalé, a mãe contava, uma Alaíde de Ponta de Pedras, que viajou numa curicaca, na costa de Soure, levada por Manoel Coutinho, apelido Missunga, depois vista numa fábrica em Belém, a mãe contou. Alaíde! E não ouviu mais, nem a viu, por certo naquele bando a carregar estandarte, a trancar bonde, com um bordo pelo terraço do Grande Hotel. E o Marrocos falando:
— Quando o Lemos levantou o imposto das carroças, os carreiros suspenderam o serviço onze dias. Os soldados de cavalaria cortaram as orelhas de um carreiro da Fábrica Palmeira. Mas os carreiros mataram um soldado. E aqui mostro o emblema do meu ideal, aqui a estréia da fraternidade, da igualdade, a estrela...
Alfredo olhou a estrela acendendo-se nos quantos olhos, no abanar das palmas, e a laranja da moça, e a renda alvinha, e o rosto que se ergueu da saia, enxuto e o ai! quando a pisaram, se perdeu?
— ... de bordo quando me deportaram desta terra eu disse, repito agora: voltarei porque a revolução avança sempre. Escrevi isto na «Comuna do Porto», jornal de que sou correspondente. O navio em que vou, volta. Voltei ou não voltei?
— Voltaste, sim, Marrocos. Tens ainda uma perna, tens ainda uma perna.
— ... e voltei com uma porção de livros no baú que e polícia me tomou e jogou no forno da Cremação.
— ... para livro tem sempre fogo na Cremação.
213 — ... enterrar debaixo do lixo aquela conferência e o Estado!
No mesmo aturdimento, que é Estado? Qual faz de conta fazia. o carocinho para salvar as crianças, mover a Cremação?. E se um dia eu acho a Andreza e conto o que vi aqui, ela o dedo no meu nariz, dizei dizia: men-ti-roso, seu mentiroso, morde aqui se isso foi certo. E topa o cartaz: «Estamos no século do operário (Gladstone)». Gladstone?. E vizinho se espalhava: o vasilhame do lixo amontoado em São Brás, mais enterros de criança e com os coveiros sem cavarem. E o dever cristão, e o dever cristão? Que aconselham os terreiros e os experientes? A sede da U.G.T. atopetada, trabalhador demais, o Cais parou? o Val-de-Cans, também? se fala dos marinheiros da Flotilha... Nem bem ouviu, já Alfredo era sacudido no arrebentar de um espanto geral um alvoroçamento na praça ao grito: O Governo Federal acaba de fechar a União Geral dos Trabalhadores! Chegou telegrama! Para a sede! Para a sede! Para a Dr. Morais! E aquele corpo de gente se movimentou, rodou, Alfredo de bubuia no arremesso rumo da sede, espalhando-se pela Piedade, São Jerônimo, ganharam a Dr. Morais, os espalhados se juntavam, de novo o corpo se unia e colava os mil pés e mãos e bocas...
E agora, no mais calmo, na aba dos caminhantes mais vagarosos, Alfredo ouvia: Estão reunidos em Palácio o Governador, o Comandante da Região, o Inspetor do Arsenal, o Comandante da Flotilha do Amazonas, o Secretário Geral do Estado, o Comandante da Brigada Militar, o presidente da Câmara, o gerente Binns, o Intendente Tiago, o Desembargador Chefe de Polícia...
— Os doutores noutro salão conferenciam. Vão curar a doença mandando carregar as armas contra as mães?
As mães? Alfredo via entre estas a dele, as mães na mesma aflição, e no meio delas, quando que tinha a Virgem Maria, o São José e o menino... Cara-Longe se fantasiava de Herodes e Sardanapalo no carnaval, assim contavam. Mas falou a verdade: as moscas descem, sobem os anjos, as carroças da Limpeza sem cavalo ou boi que puxe.
D. Celeste teria voltado? Ah quarta-feira! Na Inocentes 214 já pretejava de mosca, sim. Também debaixo das moscas, a família gorda — o pai, a mãe, a filha — junta ou separados? Iam morrer as primeiras criancinhas da Passagem. Que sei de tudo isto? Que é que as professoras vão explicar no Barão? Ou não vão saber? Pamplona, Lamarão, Rebelinho, vão saber? Esta hora a professora Maria Loureiro Miranda corrige provas ou toma o seu banho dentro da bacia verde de cheiros... Em que altura caminha a moça do gergelim e da laranja? Ainda na boca o gosto do gergelim. «E tu, onde tu trabalhas», segredou tão irmãzinha, o hálito de gergelim, o beiço devia estar bem doce. Nos Covões, morava? Nalguma Passagem? E eu saí rapaz? Por onde está vagando a garça depenada? Que sede, agora, da laranja. Castigai eles, anjo Gabriel, gemeu uma velha a arrastar as pernas, na mão o rosário. Convidava para uma procissão, no Jurunas, da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro correndo o bairro. Entre os ficantes tão atrás, Alfredo, cansado, quis fugir, bastava um pulo, era por medo? Aqui quem me agarra? Vou chegar muito tarde? Mas a Mãe Ciana, o espanhol perna-de-pau com as suas muletas, a moça do gergelim? Eu ainda menino? Viu-se no miolo da caminhada, iam embora num zoar de cantoreio e passeata, a cidade escurecia, os bondes mortos na rua e um montão de lixo fumaçando, escurecia tão depressa, ou era mosca? Que canção cantavam? Lá na cabeça as faixas e bandeiras balizavam puxando o navio, pegou mais força, que canção cantavam? De repente um estouro eivém as éguas do carro do faraó! foi o seu Lício gritando lá na frente no rosto da marcha que despencou espalhou-se valei-me! do chão gritavam é a cavalaria é a cavalaria é a cavalaria! quem que acode as criaturas? viu a espada um estampido escureceu inteiro no vozerio agora longe Alfredo fugindo pelo capinzal noite bem noite e parou para um fôlego um sapo dizia oi.
Teve de entrar pela Curuçá, a taberna fechada. Por horas mortas aquela garganta virava o Cão, quase no meio a tendinha de café, a talhada de ananás ou peixe frito, ali 215 o escuro, o relumeio dos cigarros, o giro de uma saia, uma perna, o ombro penso clareado no piscar da lamparina, a garrafa, um rosto, apagou-se, o falar baixo de fumo e cuspo e que homem agachado, aquele, ao pé da tenda de onde saiu fofa a risada quase silenciosa? Enroscada na sombra aquela outra, o cachimbo aceso. No bafo a lama e o escuro um cheiro de talco e peixe. Aqui é o macho e fêmea. Pareceu o Espantalho da esquina ali no breu? De dia não se vê a tenda, desarmam? Então é só meia-noite o arraial? Esta Passagem! Ter de passar aqui, tão sem fôlego, cortado pelo capinzal, o oi do sapo no ouvido feito um búzio e aqui a mulher vem, roçou a ilharga, lhe baforou na orelha. Na garganta, é isto meia-noite, Fosse tirar o mapa da Inocentes, saía desenhado um monstro. Já principiam aqui a morrer as criancinhas? Melhor passar correndo por esta barraquinha acesa, na salinha o anjo... As moscas voando na meia-noite. Tiaguite, cansado, um gole d’água queria. um torrão de açúcar, a rede. As pernas bambeiam, risco de cair neste chão, as moscas em cima, eivem o berro do seu Lício: as éguas... Outra barraquinha acesa? Alguém sai depressa. Atrás de vela? Na pata do cavalo a moça do gergelim e renda alvinha? Valei-me! do chão gritavam. Marrocos, a outra perna, perdeu? Vamos entrarzinho sem barulho, antes puxar um fôlego, ah gole d’água... Entrar espantado, correndo de visagem, não. Muito muito mansinho, na porta correram o trinco? Entra-se pela d. Romana? Não, a porta encostada.
E no que entra, não é que vem também chegando a d. Celeste, tão tarde também? Veio pela esquina do Espantalho e assim aparecendo de repente trazia uma especial formosura que até sossego dava. Os dois juntos e os recebeu o berro, Belerofonte saltava de camisão: Arlinda tinha fugido, levado o Pégaso.
Alfredo correu na d. Romana que muito calma estoriava: um piquete de cavalaria assalta a Passagem, só faltou entrar cavalo adentro pela barraquinha onde está seu filho? onde está seu filho?» carregando livros e entre estes a Gramática, a Antologia, a Álgebra que a normalista atrás dos cavalarianos gritava que devolvessem. Do filho, o 216 caldeireiro, d. Romana não sabia. Por vê-la tão calma. Alfredo se acalmou também, um pouquinho. fazendo-lhe companhia. Tão sem sangue no rosto o caldeireiro, a cera em pessoa vestindo o fumo da fornalha. Sossegado o Belerofonte, d. Celeste apareceu contando: Arlinda havia sumido com dois vestidos da mala, a velha. Alfredo num pulo (mas levou? Foi? tão satisfeito que não sustentou o olhar com a d. Celeste. D. Romana num ar de rir, que mãe calma! Duas pessoas de Curuçá, d. Cecé falava, lhe vieram pedir pano para forrar o caixãozinho de um anjo, outra uma roupa prum doentinho já de vela na mão, Que pano senão de seus vestidos velhos? Do que sobrava — Belero a destruir um por dia — do que sobrava. Alfredo correu e foi abrir a mala: funda, um resto de roupa pisada, o corpinho roto, retalhos, o cabelinho perdido de uma boneca, O cheiro sempre, o cheiro das noites de d. Celeste, o cheiro da fuga a bordo. No cabide o vestido do passeio. Alfredo cheirou-o, como se quisesse adivinhar. Andou pelo quintal e farrapos de seda e gorgorão lembravam o «Pégaso», o cabo de vassoura de Belerofonte, as tochas molhadas no querosene ardendo na galinha, no topo da cerca. Belerofonte é belo. Mata a Quimera, Belerofonte. Alfredo voltou para a conversa na vizinha:
— Vou, sim, d. Romana. Vou alisar os meus azulejos. Aqui que fico? Antonino Emiliano me falou que vai para a Guiana, Amapá, Costa Negra, sei lá, num barco, chegou a dizer que me traz uma coroa de diamantes. Nunca ouvi dele uma tamanha coisa. Já não me basta esta? Espero mas sentada no meu sobrado. Meu irmão, coitado, aquela mão de fada na tesoura, mas nem do noivado deu conta. Chega e vai saindo para o enterro da noiva. Não soube? Pois agora mesmo li o cartão de comunicação do Desembargador que o Antonino me deixou em cima da mala velha. Não sabia que Amarílis estava assim tão mal, Leônidas deve chegar esta madrugada. Antonino foi para o «quarto».
Alfredo reparou o cuidado do marido em deixar o cartão onde a mulher, infalível, ia tocar, abrir.
— Mas a senhora, d. Romana, ah nem parece. A cavalaria entrou trazendo as moscaradas. Que nem um 217 demônio, não? É o único adiantamento da Passagem entrar a cavalaria. A. placa, até agora. O progresso é mosca e anjo morrendo, Alfredo pasmo: no seu nenhum espanto, d. Celeste que escondia? Morte de noiva do irmão, chegando da rua àquela hora, fuga de Arlinda, a mala vazia, a cavalaria, a muda, calma aflição da d. Romana, em tudo a d. Celeste até que achava entretimento?
— Uma coisa juro: desta nem um puxão de orelha aquela Arlinda levou de lembrança. De mim, jamais. Pra senhora, d. Romana, ela não lhe falou nada-nada?
— A senhora vai pros seus azulejos, não?
Alfredo mordeu o beiço com a sua zombaria sem dó. A esta hora nenhum azulejo mais no velho sobrado que o marido desmanchava. A velha arca com as coisas de seu valor, ali deixadas, trancadas, para uso em dezembro só, coisas que faziam parte da senhora Celeste passando fim do ano em Muaná, na parecença do tempo antigo, tudo, tudo o marido transformava em viagem em busca da coroa de diamantes.
— É o que me coube, primo. Aqueles ninguém me tira. Só o que me restou de toda esta ... ao menos lá descanso. Faço de conta que sou...
Interrompeu-se a acudir a d. Romana que a modo sentiu uma tontura, logo passou. Vinha chegando a normalista com seus livros. A Álgebra, de capa cortada, na gramática rompida a página 68. Atrás o namorado, um mulato pintoso, cabelo engordurado bem passado, anelão, sapato preto e branco, mata-mosquito da Febre Amarela.
Alfredo caiu na rede, virou-se que virou-se, cadê o homem para acudir a moça do gergelim, a Mãe Ciana, a dar notícia dos primos na Rui Barbosa? Do caldeireiro, que se sabia? Este, sim, fazia inveja. Da raça do pai de Isaura, o funileiro? Do Jerônimo, o tuxaua dos roceiros no Guamá?
Cabeça no ar, cadê sossego. sono, quem disse? No corpo doendo zumbia o largo da Pólvora, disparava a cavalaria, o porquinho batendo as asas com a Arlinda em 218 cima, ah consolação: Arlinda voando para o seu rio. Escutava os passos da d. Celeste pela barraca, no jirau os tajás bebiam a, água em que foi lavada a carne da janta. A mesma passeante. Abria fechava abria a mala. D. Romana partindo lenha a esta hora? Ainda com o seu Febre Amarela a normalista? De repente a voz da moça pela cerca, cozinha, corredor, chamando a d. Cecé.
— Já vou, vizinha, notícia do mano?
— Ainda não, senhora. A senhora tem goma arábica? Ó, Alfredo, mas já dormindo? Que faz o único homem agora nas duas casas que não está de sentinela?
— Dobre a língua. Único, não, e meu filho? Se bem que esteja sonhando em botar o facho aceso no rabo do «Pégaso».
A normalista debruçou-se na rede de Alfredo e derramou sobre o rosto fingidamente adormecido todo o seu longo cabelo solto cheirando a mutamba. Alfredo fez que repeliu, pulou, esfregando os olhos.
— Agora tu não gostas, meu filho. Amanhã é chorando para que alguém te faça justamente isto, mas babau, adeus que te acontece.
Era d. Celeste e também a dizer que não tinha goma arábica. As duas saíam para o quintal e se viraram à voz de Alfredo:
— É o Leônidas, d. Celeste.
II
Domingo, cedinho, seu Antonino Emiliano acordou-o, foi com ele até a esquina, já o Espantalho na janela. Alfredo queria indagar de seu Antonino sobre as moscas, os anjos, o Espantalho e não se atrevia. Ao menos, explique, esse daí da janela, que nele aconteceu? É o que gera e manda as moscas? Sempre de volta do Barão, trazia a sombra e o perfume da professora Maria Loureiro Miranda a cobri-lo, protege-lo na hora de passar pelo olhar do 219 homem aí sem falta, só, mudo, o beiço enorme, a testa avançando sobre os olhos que se encolhiam numa caverna oleosa a olhar como se arpoasse. Que falava? Expliquem o pardieiro, esse, e que acontecia no mundo, fosse Cremação apagado, conferencia dos doutores, reunião do Palácio, o valei-nos na correria das criaturas, para de tudo isso sair um espantalho, aquele, causando remorso, nojo, misericórdia, medo, desgosto de tudo que se estuda, se quer. se ambiciona?
Mas seu Antonino não lhe deu tempo:
— Parente, eu e o meu cunhado, fizemos dois enterros. Meu cunhado enterrou a noiva e eu o sobrado de azulejos. foi abaixo o corpo da casa. Devolvi o «Zéfiro» ao dono que já mudou o nome. Mas notei, Deus que me perdoe o maldar, que o meu cunhado sentiu um duplo alívio, livrou-se do noivado e do «Zéfiro».
— E a prima Cecé?
Pela primeira vez, Alfredo falava assim, sem jeito nenhum de tratar a prima por prima. Dona, lhe aconselhou a mãe. Dona Celeste.
— Aprovei as contas do Leônidas com a condição dele convencer a irmã a não ir agora ao Muaná. Convenceu. E parece que o Leônidas aceita o lugar de trapicheiro em Ponta de Pedras. Aproveita a casa do trapiche para montar a alfaiataria e vestir os navegantes. Coitado tive de lhe pagar o aluguel da beca para poder ir no enterro. Vou sossegado sabendo que ela não vai agora ao Muaná. E tu sabes, não queria te dizer, mas os dois vestidos que a Arlinda roubou, ela não roubou, eu vendi no Ver-o-Peso, eram ainda muito bons. Tive uma precisão, um dia desses. Não posso agora dizer que a Arlinda não roubou. Parente, ainda estás menino. Amanhã, vais entender.
— Entendo, entendo.
Alfredo repetia «entendo entendo» como se lhe dissesse: todos vocês não prestam, todos vocês não prestam. Vou dizer, sim, que a Arlinda não roubou. Rompia uma ira por dentro, sufocada, pior que aquele rosto ali na esquina. 220 Ladrão de vestido, jogando a culpa na inocente: Seu Antonino Emiliano conversava bem alegre com um carroceiro que trazia capim. Chegaram ao largo da Santa Luzia, o Necrotério aberto, o mercadinho escurecia de moscas. passou na cabeça de um homem um caixão para anjo.
— Foi para isto que me acordou, me chamou? O sr. vai deixar que a menina passe por uma ladrona?
— Não roubou o «Pégaso»?
— O porco é que foi com ela, de tanto penar na mão do Belerofonte. O porco viu que ela fugia, saiu atrás. Ela então levou o bichinho pela mão, os dois bem se dando um com outro. Que estejam bem longe. Ou foi também o sr. que roubou?
Antonino Emiliano ria, ofereceu-lhe um pedaço de pão quentinho, Alfredo: não! saiu correndo. Ao passar pelo Espantalho olhou, como lhe pedindo perdão pelo horror que dele sempre sentia e chegou à barraca, gritando:
— D. Celeste, prima Cecé...
Mas, que entrou, dá de cara: tio Sebastião!
Minutos depois, hesitante, quer e não quer esconder. olhava para o tio a quem pede para levá-lo nas férias a Cachoeira.
— Vamos, sim, no barco do Antônio. Noutro sábado, serve? Sabia que cheguei há dias? tive que escrever pra Amélia, pedindo o paradeiro da casa.
— D. Cecé, os dois vestidos não foi a Arlinda. Nem também o porco.
D. Celeste mais divertida que surpresa, piscando para o Sebastião, este, a sobrancelha fingindo espanto, num uniforme de parada, cabo da artilharia divisionária, uma soberbia de negro recém-chegando do Rio de Janeiro. Aqui Alfredo se indagando: se for acusar o seu Antonino passará por ingrato. Basta que nem procurou onde moravam os Alcântaras, ao padrinho Barbosa foi? Da Libânia e Antônio é sabedor? Visitou os primos na Rui Barbosa? Agora o pago, aqui, pela moradia, será dizer que o dono da casa roubou os vestidos, derrubando escondido o casarão de azulejos?
221 — Quem tirou os dois vestidos fui eu que vendi no Ver-o-Peso. Precisava...
Antes a Arlinda sem culpa que envergonhado, e muito, perante o tio chegando de tão alto, cabo no Rio, viu o Marechal Hermes. Defendia a inocente sem acusar o culpado. Do tio ia sentindo a macia risada incrédula.
— Ora, meu filho, sei teu bom costume. Não encobre a ladroninha. É por ser perante o teu tio a tamanha confissão? Estou é que escondes o paradeiro da fugitiva e queres por força inocentar a sonsa, confessa. Bem que te conheço. Não negas de quem és filho e não só do teu pai, da tua, da tua mãe.
— Os dois vestidos fui eu.
— E o porquinho? Pensa que o teu tio acredita? Sebastião, o mais que me podes fazer é pedir que ele aponte a toca da fugidinha. Que eu, da filha alheia tenho de dar conta. Ora, viva o cavalheiro. Aquela volta tão tarde na quarta-feira, foi acompanhando a dama que fugia?
Alfredo quis falar, «e o Trombetas e as tuas quartas-feiras?», a língua não deu, corre a abraçar-se ao tio, nos soluços. O tio concordando com tudo numa risada das suas. Luziam-lhe as perneiras, do gatinho vir e ficar se mirando. No dólmã o lustro, cheiro do Rio, do «Comandante Ripper». Estava num negror bondoso, liso, o garbo muito militar, aqueles dentes da irmã na boca. Roendo a raiva, abraçado ao tio, calculou fingir saber que sabia mesmo o paradeiro de Arlinda. E como sentia que ela tivesse fugido sem nada lhe dizer, dela não mereceu a menor confiança, nenhuma-nenhuma! E tirou do peito do tio o rosto indignado: atrás da d. Celeste que sempre sorria zombeteiro, estava a moça normalista, os olhos no tio. Os olhos no tio.
D. Celeste ia por a mão na cabeça do primo, este na mesma raiva escapou pelo corredor — «pois eu sei onde ela está, sei, pronto, dizer não digo» — ninguém levava a sério? E mais alto:
— Ajudei ela a fugir, foi. Montei ela no porquinho. Foi.
E vara a barreira de moscas, corre no quintal, atira pedras nos tajás, tropeça num filho de bananeira, ninguém 222 levava a sério? E agora, com este desabafo, não acabava ingrato?
— Mas que tiozão o teu, hein, meu sobrinho?
Era a mão da normalista no seu ombro, a voz ao ouvido, quente.
— A taoca mordeu ele.
— Quem? Mordeu ele quem?
Nisto, o Belerofonte.
Mas seu Antonino não lhe deu tempo:
— Parente, eu e o meu cunhado, fizemos dois enterros. Meu cunhado enterrou a noiva e eu o sobrado de azulejos. foi abaixo o corpo da casa. Devolvi o «Zéfiro» ao dono que já mudou o nome. Mas notei, Deus que me perdoe o maldar, que o meu cunhado sentiu um duplo alívio, livrou-se do noivado e do «Zéfiro».
— E a prima Cecé?
Pela primeira vez, Alfredo falava assim, sem jeito nenhum de tratar a prima por prima. Dona, lhe aconselhou a mãe. Dona Celeste.
— Aprovei as contas do Leônidas com a condição dele convencer a irmã a não ir agora ao Muaná. Convenceu. E parece que o Leônidas aceita o lugar de trapicheiro em Ponta de Pedras. Aproveita a casa do trapiche para montar a alfaiataria e vestir os navegantes. Coitado tive de lhe pagar o aluguel da beca para poder ir no enterro. Vou sossegado sabendo que ela não vai agora ao Muaná. E tu sabes, não queria te dizer, mas os dois vestidos que a Arlinda roubou, ela não roubou, eu vendi no Ver-o-Peso, eram ainda muito bons. Tive uma precisão, um dia desses. Não posso agora dizer que a Arlinda não roubou. Parente, ainda estás menino. Amanhã, vais entender.
— Entendo, entendo.
Alfredo repetia «entendo entendo» como se lhe dissesse: todos vocês não prestam, todos vocês não prestam. Vou dizer, sim, que a Arlinda não roubou. Rompia uma ira por dentro, sufocada, pior que aquele rosto ali na esquina. 220 Ladrão de vestido, jogando a culpa na inocente: Seu Antonino Emiliano conversava bem alegre com um carroceiro que trazia capim. Chegaram ao largo da Santa Luzia, o Necrotério aberto, o mercadinho escurecia de moscas. passou na cabeça de um homem um caixão para anjo.
— Foi para isto que me acordou, me chamou? O sr. vai deixar que a menina passe por uma ladrona?
— Não roubou o «Pégaso»?
— O porco é que foi com ela, de tanto penar na mão do Belerofonte. O porco viu que ela fugia, saiu atrás. Ela então levou o bichinho pela mão, os dois bem se dando um com outro. Que estejam bem longe. Ou foi também o sr. que roubou?
Antonino Emiliano ria, ofereceu-lhe um pedaço de pão quentinho, Alfredo: não! saiu correndo. Ao passar pelo Espantalho olhou, como lhe pedindo perdão pelo horror que dele sempre sentia e chegou à barraca, gritando:
— D. Celeste, prima Cecé...
Mas, que entrou, dá de cara: tio Sebastião!
Minutos depois, hesitante, quer e não quer esconder. olhava para o tio a quem pede para levá-lo nas férias a Cachoeira.
— Vamos, sim, no barco do Antônio. Noutro sábado, serve? Sabia que cheguei há dias? tive que escrever pra Amélia, pedindo o paradeiro da casa.
— D. Cecé, os dois vestidos não foi a Arlinda. Nem também o porco.
D. Celeste mais divertida que surpresa, piscando para o Sebastião, este, a sobrancelha fingindo espanto, num uniforme de parada, cabo da artilharia divisionária, uma soberbia de negro recém-chegando do Rio de Janeiro. Aqui Alfredo se indagando: se for acusar o seu Antonino passará por ingrato. Basta que nem procurou onde moravam os Alcântaras, ao padrinho Barbosa foi? Da Libânia e Antônio é sabedor? Visitou os primos na Rui Barbosa? Agora o pago, aqui, pela moradia, será dizer que o dono da casa roubou os vestidos, derrubando escondido o casarão de azulejos?
221 — Quem tirou os dois vestidos fui eu que vendi no Ver-o-Peso. Precisava...
Antes a Arlinda sem culpa que envergonhado, e muito, perante o tio chegando de tão alto, cabo no Rio, viu o Marechal Hermes. Defendia a inocente sem acusar o culpado. Do tio ia sentindo a macia risada incrédula.
— Ora, meu filho, sei teu bom costume. Não encobre a ladroninha. É por ser perante o teu tio a tamanha confissão? Estou é que escondes o paradeiro da fugitiva e queres por força inocentar a sonsa, confessa. Bem que te conheço. Não negas de quem és filho e não só do teu pai, da tua, da tua mãe.
— Os dois vestidos fui eu.
— E o porquinho? Pensa que o teu tio acredita? Sebastião, o mais que me podes fazer é pedir que ele aponte a toca da fugidinha. Que eu, da filha alheia tenho de dar conta. Ora, viva o cavalheiro. Aquela volta tão tarde na quarta-feira, foi acompanhando a dama que fugia?
Alfredo quis falar, «e o Trombetas e as tuas quartas-feiras?», a língua não deu, corre a abraçar-se ao tio, nos soluços. O tio concordando com tudo numa risada das suas. Luziam-lhe as perneiras, do gatinho vir e ficar se mirando. No dólmã o lustro, cheiro do Rio, do «Comandante Ripper». Estava num negror bondoso, liso, o garbo muito militar, aqueles dentes da irmã na boca. Roendo a raiva, abraçado ao tio, calculou fingir saber que sabia mesmo o paradeiro de Arlinda. E como sentia que ela tivesse fugido sem nada lhe dizer, dela não mereceu a menor confiança, nenhuma-nenhuma! E tirou do peito do tio o rosto indignado: atrás da d. Celeste que sempre sorria zombeteiro, estava a moça normalista, os olhos no tio. Os olhos no tio.
D. Celeste ia por a mão na cabeça do primo, este na mesma raiva escapou pelo corredor — «pois eu sei onde ela está, sei, pronto, dizer não digo» — ninguém levava a sério? E mais alto:
— Ajudei ela a fugir, foi. Montei ela no porquinho. Foi.
E vara a barreira de moscas, corre no quintal, atira pedras nos tajás, tropeça num filho de bananeira, ninguém 222 levava a sério? E agora, com este desabafo, não acabava ingrato?
— Mas que tiozão o teu, hein, meu sobrinho?
Era a mão da normalista no seu ombro, a voz ao ouvido, quente.
— A taoca mordeu ele.
— Quem? Mordeu ele quem?
Nisto, o Belerofonte.
223
O jogo
— Você vai comigo no barco do Antônio e boca calada no que vai ver a bordo. Até que queimem o lixo e acabe a praga, meu sobrinho. Vamos levando uma senhora grávida, fugindo da doença.
Tio e sobrinho se aproximavam do campinho de futebol debaixo da sombra da mangueira. Ia haver jogo. Alfredo até se assustava; jogo com as criancinhas morrendo (quatro) na Passagem, outras mal, e em tudo, em tudo, aquele poder das moscas? E por que de boca fechado no barco? Por que fechar os olhos à passageira?
— O povo tem o seu fôlego, explicava o tio Sebastião, um tanto misterioso, contando da cavalaria, da cigarreira de costas abertas por uma espada...
— Bem, meu sobrinho, quem viu o Kuntz no goal do Brasil, o Fried, o Amílcar... isso aí é jogo? Vou no Museu com a Dolores.
Dolores? Ainda Dolores? A moça da padaria de Cachoeira, janeleira de São Mateus? E aqui na Inocentes, na pouca hora, já o mordido pela taoca tirando a normalista do Febre Amarela?
— A bença, tio?
Espalhando o seu negror festeiro, o ar viajado, lá se foi o tio e ali na esquina, no sol fervendo — tão casual, santa inocência! — o tio encontra a normalista, alta, o leque contra o sol, os olhos no tio.
224 — Apreciando o belo tio mundiar a quintanista?
Era o Cara-Longe, calças arregaçadas, mangas de camisa, sujo de terra.
— Vamos ao futebol? Joga-se bola no meio da morte e do mosqueiro. Estamos no apocalipse, bem lhe dizia. Um dia você lerá a Bíblia. E aqui em segredo: como falta coveiro no Santa Isabel, aconselhei um compadre a sepultar seu anjo no quintal. Cavei a cova debaixo das lágrimas da mãe que não se conformava. O pai, homem de uma só palavra, da feita que diz sim... Em vez da cruz, finquei um tajá. Soltei um foguete pra avisar o São Pedro no céu a abrir a porta ao anjo, como se faz em São Caetano de Odivelas, quando morre criança. O Herodes não cessa. Solta soldados, dia e noite. É a degola, enquanto os doutores conferenciam, a cavalaria dá pauladas, o sangue das mães escorre nos paralelepípedos. Não é o filho de Deus que Herodes quer degolar mas o filho do homem. Aqui na Passagem, depois do choro da santa da d. Joaquina Gonzaga, no quarteirão das religiões e do coito, reza-se para o demonio. Tu ainda não conheces a «zona» da Inocentes? Não viste ainda as fêmeas zonearem? Esses cavalheiros da Passagem, os batistas, os espíritas, os fiéis da santa chorona lançam espadas de arcanjos contra a garganta da perdição. Mas todos eles espiamzinho escondido aquela área de cachaça peixe frito e lamparina. Todos, foi visto o médium Mateus, o pijama de alamares. E ainda falam dos passeios da senhora Celeste, do orgulho da normalista.
— Mas o sr. não foi que falou?
— Falei? As quartas-feiras? Que sei? Meu filho, eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. Estavam no livro, agora estão na Inocentes. Meu filho, ontem me encontrei na la. de Março, à noite, com o meu antigo mestre de francês, o velho Marçal, um gorduchote aposentado, o fraque ainda do lemismo, a barba fedendo a sarro. Me citou qualquer coisa assim como... como... la puissance des mouches... elles gagnent des batailles... O mais, perdi. Citou o autor. Lá no ginásio, se lá chegares, saberás. O meu pouquinho francês gastei com os 225 con|trabandistas de Caiena, gastei o francês e o tempo. E aqui estamos debaixo da puissance... Olhe, muito segredo com o pé de tajá, meu jovem confidente. Um benzedor de panariço e um coveiro às ordens.
E com um aceno, rumo do futebol, foi repetindo: La puissance des mouches. La puissance des mouches. Alfredo seguiu-o, o campinho já cheio de torcedores. além das janelinhas, portas, batentes, mochos, espreguiçadeiras em torno do campinho. No batista, cantavam e ao pé da Nossa Senhora da sia Joaquim Gonzaga escorriam duas velas; no espiritismo, entrava, de guarda-chuva, um senhor muito pensativo. Pulando nos galhos da mangueira, meio do campo, penduravam-se os guris que assoviavam, soltavam curicas, baleavam de baladeira, acertaram um filho de manga nas costas do Cara-Longe que se voltou, gritou no francês dele, o folhame escondia os apedrejadores. Subiam o mastrinho as duas bandeiras rivais. Jogariam uniformiza dos? Também de bicancas ? E a bola, nova-nova da Saltão? Alfredo despacientava. Ir embora de Belém queria e logo o medo de não volver de Marajó. Faltava um ano no Barão. Se subisse na mangueira? Em que findou o encontro do tio com a normalista? Coroada com os diamantes a d. Cecé sentada no trono onde foi um sobrado de azulejos. Culpando a Arlinda, passar a próxima por ladra de vestidos velhos? A mangueira, agora, lhe parecia mais troncuda, escura de tão verde, à sua roda cirandavam as casas, o campo, os torcedores. As duas traves, sem um cal, coitadas. Também em volta chegavam as senhoras moscas, lá no alto um papagaio muito alto; ligeiro um outro, que nem gavião, cortou o rival, foi uma algazarra na mangueira, a meninada atrás do papagaio caindo; caiu nas palhas do carvoeiro, este com a vara barrou os invasores; cutucou o papagaio no palhal, era grande, duas cores, um rabo raro: então apanhou, disse: só entrego ao próprio dono. O jogo ia começar. Perto, um velho, o corpo dobrado, riscava o chão com a ponta da taboca e dizia: aqui já foi o mastro de São Sebastião, palanque de festa de São Francisco das Chagas. Debaixo da mangueira, estendemos o corpo do 226 Sandoval morto num encontro de boi-bumbá no Umarizal. E uma pessoa tirando o punhal do morto: Sossega, meu camarada, que este teu punhal te vinga. Essa pessoa fui eu. Foi só nove anos na São José que curti. O velho escrevia o chão em companhia de outras pessoas que cismavam, olhando aquele escrito garranchado. Alfredo tentava ler. O velho alegava que o largo teve mastro de santo, foi terreiro de boi-bumbá. velório do Sandoval, de bichos. pastorinhas, muitos que ali estavam quanta vez não apreciaram o luar ao pé da árvore, outros fincaram bancos, e o tempo em que a falecida Fortunata ali colocava a panela e vasilhame do seu tacacá, assim de freguesia, e bem debaixo da mangueira? As mangas caiam rachando, recendendo pela Passagem, cada frutona. manga que era uma imundície, por ele, não, pra manga paladar não tinha. Agora era só bola, bola, bola, a invenção de bola no meio das casas, só estava era a competência dos que consideravam apropriado o terreno para um divertimento daquele, tão bruto, que o inglês trouxe, além do mais a mangueira no meio.
— Mas é um adiantamento, mestre Aniceto, é o progresso, rebatia o baixote, de pijama sem alamares.
— Só estou é o espírito do finado Sandoval não botar esses batedores de bola do lugar onde ele expirou. Vão cuidar do lixo, queimar os doutores no forno da Cremação, soprar essa moscarada, que a cidade está que nem curtume. É ou não é um castigo?
— Ademais não tem licença na Fiscalização. Passa o fiscal, lá vai multa, desfinca as traves, o mastro pro fogo, só o centro do campo é que não pode apagar, a não ser que derrube a mangueira.
— Mas legalmente a Passagem dos Inocentes existe? Existe? Existe? Categoria de rua, adeus que tem. Existe?
O baixote piscou que o fiscal permitia; mesmo fiscal na Passagem só para o dia do Juízo. A maioria da população estava de acordo de que o futebol no coração da Passagem era, quando mais, um certo adiantamento.
O velho resmungou as suas obscenidades, escarrou para o lado do mastro onde as bandeiras pendiam, murchas. 227 E Alfredo de costas ouviu um chamado. Pela voz sabia quem.
— Bem, meu filho, parto. Embarco cedo. Deixo a Cecé e o Belero nos teus cuidados. Combinamos tudo. Pelo menos um ano por lá. Pouca desgraça comigo não. Ou a fortuna ou desgraça muita. Pouca, não. A Cecé agorinha me assegurou que este ano ao Muaná não vai. Ah! Tomara Deus!
— O sr. não está fugindo dela, do que fez, do aleive que ficou na Arlinda?
— A Cecé fica. Meu filho, aqui entre nós, ralhos só do meu finado pai. Ora, esta, meu joelho ralado! Ainda mais esse de calça curta! Mas veja só! A Cecé. fica, sim.
— Fica? O sr. trás os diamantes? Há coroas de diamantes?
— Não, não vamos nos despedir brigando, rapazinho. Que Deus te encurte a língua, seu esmiuçador. Te trago uma pepita.
Alfredo correu para a barraca.
Assustou-o a sombra da d. Celeste na parede. Que fazia ela entre o zumbido das moscas, o rosto nas mãos, só? Sabia que o sobrado foi abaixo? Ou com a ausência do. marido, vai fazer de toda tarde a sua quarta-feira? E nesta pergunta, não ia uma calúnia, que sabia?
— Sim, garanti que ficava, Eu que fico? Belerofonte só vai saber quando chegarmos na doca.
— Mas ao Muaná? Vai a Muaná?
— Então? Naquele sobrado, ainda sou eu, ainda sou eu.
— Mas vai enganar o seu Antonino, o Leônidas?
D. Celeste voltou-se, fechou a mala vazia, bateu as moscas, olhou para o primo que se encolhia na parede, embaraçado. Ela quis rir? Cosido à parede, Alfredo titubeava, ao vê-la tão agarrada ao que ela repetia: ainda sou, ainda sou eu.
228 — É só o Leônidas embarcar. Hoje é o Antonino. Já ajustei passagem. Pensando que eu ficava, meu espantado? E uma coisa :nem uma palavra. A ninguém.
— por que me disse? Por quê? Precisava me falar?
— Por quê?
Falava rouca, uma sombria astúcia nos olhos, enxotando as moscas, como se com isso tivesse algum sossego.
— Por que me contou? Precisava?
Nisto, bateram. Alguém pela janela pedia retalho de vestido ou pano para forrar um caixão na 14 de Março. O anjinho tinha expirado naquele minuto.
No mesmo momento, fugindo, Alfredo riu, ria de seu Antonino, da d. Celeste, e os dois risos por dentro, cortavam fundo. Por que ambos me contaram? Por que me meteram em cada um deles? E se aos dois falasse, tirando de cada um a mentira, a cada um dando a verdade? Mas sabia? Era direito calar-se? Por que envolvido pelos dois, obrigado a calar-se quando mais fácil seria não ter sabido nada, nada... Por que o jogo não começava?
Mais embaraçado, mais confuso, Alfredo a modo que via naquele futebol o próprio embaraço, a confusão mesma, um jogo de toda a Passagem em torno dos vinte e dois que circulavam à roda da mangueira, atrás da bola. Esta, pensou Alfredo, era o seu carocinho de tucumã subindo e descendo, retirando dos jogadores e da assistência, como uma fita mágica, os desejos e os impossíveis da Passagem. Também a bola trazia a d. Celeste de volta, sem ver o casarão destruído, levava o seu Antonino ao garimpo, a mão exata no diamante do fundo. A bola volteava a sua fita imensa, invisível, que Alfredo recolhia em seu desassossego; aquelas criaturas seguindo a bola, que sonhavam, que desejavam, que pediam? O campo se prolongava pelas casas e pelas almas, a bola em toda a parte, perseguida e perseguindo, cheia do faz-de-conta geral. E quando se entranhava nas ramagens da mangueira? Subiam os bombeirinhos ajudando os que já estavam lá em cima, com o sol no rosto, a bola pendurada no ramo, oculta num ninho, suspenso o jogo aqui em baixo, à espera que lá de cima o outro jogo terminasse. A mangueira escondia a bola, 229 com esta os meninos saltavam nos ramos, um passava a outro, assim de mão em mão, numa arte de circo que Alfredo admirava, invejava, queria. Que faz-de-conta era lá em cima? Por que escondiam tanto? Por que eu também escondo, calei-me, deixando ir a d. Celeste? Na mão duns mágicos a bola e aqui no campo e das casas atiravam pedras, gritos, a aflição das mães: desçam! desçam! Qual nada, os trapezistas, de galho em galho, sumiam pela folhagem; até que a bola escapava, escorria pelo tronco e os vinte e dois recomeçavam a perseguir a próxima, vai neste pé, pum na cabeça, bateu na trave, repicou entra na janela, em cima da criancinha no macuru, acordou no quarto o velho que deu um um grito como se visse a morte e agora a bola volvia, alta, varou as ramagens, saltou nas palhas da igreja batista onde os cânticos iam mais altos. E escapou visitando outra barraca direitinho pelo rombo da parede — gol! gritaram os meninos rompendo a nuvem das moscas — saltou dentro da alcova; os moleques voltavam tontos, muito arregalados: ela estava nua, nua-nua. A bola caía em cheio nas intimidades, voltava mais pesada e mais esquiva e os vinte e dois naquele espaço mirim rodeando a mangueira, a adivinhar se a demônia estava doutro lado ou na frente ou escondida nos ramos ou mansa na mão dum menino ou fugindo para as moradias, e sempre os vinte e dois a persegui-la, que bem e que mal enchiam o pneu, o couro tinindo? Atrás da bola, a torcida e os dois bandos desarrolhavam suas velhas raivas e ódios guardados, seus carinhos súbitos, suas fúrias. Outra vez a bola, tibum num caldeirão de mocotó, levada ao poço, baldeada, agora no choco da galinha, aqui na arca que a velhinha sarapeca fechou berrou que bola nenhuma ali não tinha entrado não. Pela luz divina, dentro da arca, não, que nesta arca o diabo nunca entra, não. O bem soa e o mal voa, a bola não soava, voava. Os meninos sabiam que sim; descubram como tirar dali. Sentada na arca, a chave na mão, a velha desafiava. Veio a madrinha do clube, rogou, suplicou, deu dez tostões, a velha abria a mala com este ajuste: sair sozinha da barraca e deixar a bola bem ao tronco da mangueira, fazendo cruz, dizendo: Te arrenego. Sim, gritaram geral. Outra bola não tinham, 230 só aquela. Nesse intervalo, via-se o silêncio de combate em que os inimigos se defrontavam calculando suas reservas, sorte, azar, manhas, paixões, medindo o fôlego, tão bons vizinhos, agora separados, matando a sede de se dizerem desaforos, injúrias chocadas quanto tempo, pela vingança, ou pela inveja, no pretexto do jogo abriam a alma. Muita vez os jogadores eram lançados porta a dentro, pelas janelas, ali mesmo socorridos, e outro alarido foi quando a bola enxotou do quintal porcos, picotas, bichos que um vizinho escondia do outro, agora tudo descoberto. As donas de casa, reclamando contra a roupa atingida, os gomados alheios, o trabalho perdido pela fatal visita, saíam para o meio do campo, entre os vinte e dois, a tocar as aves, o capado da professora de óculos, e o cachorro, um brabo que a bola tirou da corrente, pulou no vizinho, mordeu a criança, por isto deu briga, o jogo interrompido. Chega a madrinha do clube e a bola voltou a vasculhar as barracas, curiosa dos esconderijos, e sempre insubmissa aos pés e mãos daqueles seus perseguidores, no prazer de provocar desastres, desunir vizinhos, surpreender os amantes nas sestas de domingo. Atrás dela a obstinação, a astúcia, a esperança, a sede de algo que a bola escondia das duas equipes e da população. Só a mangueira, acima do bem e do mal, amadurecia as suas mangas, também carregada de meninos, mais uma e outra vez escondendo a caprichosa. E foi que no rodeio da árvore um atacante conseguiu apanhar a esquiva e chutou tão enraivecido e feio que a enganosa voou janela adentro da d. Joaquina Gonzaga correu um alvoroço — por que deixam a janela aberta? Bateu na santa? Bateu na santa? Tocando de leve no rosto, por pouco a santa não quebrou! A menina, sempre entrevada, vendo os vestígios úmidos no rosto da Nossa Senhora, gritou que a santa chorava, suspendeu-se o jogo. Veio a madrinha do clube. Era, não era, a d. Joaquina Gonzaga a afirmar que aquela água na bola foi posta por Deus para justamente bater na face da imagem e transformar-se em lágrima e tudo o mais era a pura perdição na Inocentes, pois se até as moscas sempre respeitavam as faces da Mãe de Deus, ao passo que dessa humanidade só se via esta bola. Mas o Alfredo deu com o 231 Cara-|Longe, este varando o barulho, a afastar a aglomeração, pediu o lenço da madrinha do clube e enxugou perante aquele público o rosto da Nossa Senhora.
— Confundir aquelas outras lágrimas com este sujo de bola molhada?
Enxugou-se, acabou-se. A santa não chora por tão pouca merda que sois vós, caifazes! Ao futebol. Leve a bola, madrinha!
E foi então que Alfredo viu: num passo tardo, o tronco nu, reluzindo no sol, o homem se aproximava — o Espantalho, meu Deus, o Espantalho andando! — saíra de sua janela e viera, pelo menos de longe, ver.
— É o lázaro, Nossa Senhora, sussurrou a mulher junto de Alfredo que estremeceu. E viu: de menos distância: semelhava um santo? A modo que só ele tinha consciência de tudo aquilo, sabia aquilo, e a morte das crianças e a praga das moscas, podia bendizer e amaldiçoar o jogo, os jogadores e a platéia ali espalhada, agora assombrados com a aparição? Solitário, passo a passo, o peito e o rosto no sol, avaliava em toda aquela gente à espera da bola, a chaga oculta, as públicas e secretas loucuras? E então foi que a bola, depois de tantos giros, veio caindo pelo rosto do aparecido, pelo peito, mão e coxa e aquietou-se ao pé descalço, sem que ninguém se atrevesse a apanhá-la. O homem parou. Com o sol em cheio e na poeira levantada, mais parecia subindo o céu.
233
Noite em Santana
Navegava? Mas essa ilha? Na Meia-noite? Igual navio? Ou barca de Caldeira Castelo Branco, o fundador de Belém. de dia era ilha, de noite desencantava?
Sentado na borda, a mão nos cabos da cana do leme, soltando a escota da vela grande, o tio Antônio. Ou o braço dele, negro, é o próprio leme?
Dois mastros subiam sem fim sustentando as velas inclinadas, o pique alto: os mastros desta viagem, levando debaixo do toldo a oculta senhora na rede; e pela primeira vez com o tio Antônio, o piloto barqueiro de muita falância no Ver-o-Peso, trapiches de Soure, Pinheiro e Chaves. Antônio, nome famoso na boca da mãe, Antônio, o Piloto.
O barco «Santo Afonso». Viajando no «Santo Afonso»! As vezes que este viajou lá fora, no desconforme — estica que eivém a pororoca — entre as mal-assombradas marés da Costa Negra. Barco curtido de trovoadal rumo da Mexiana, Amapá, Oiapoque, roçando rios de diamante e de ouro e portos de febre, contrabando, evadidos da ilha, do Diabo, a língua francesa, e onde devia estar — pelo menos a sua alma errante — aquele doutor Edmundo no búfalo.
Dois mastros o «Santo Afonso». Que traziam na madeira? Que paus são estes, de onde tirados, agora tão mastros, como se tivessem sido sempre, veleiros de nascença, parecendo de ferro e ao mesmo tempo vivos, dentro deles correndo voz de vento, ordens de comando do tio Antônio, gritos antigos dos bichos no cerradal? Já antes 234 suas ramagens no vento velejando adivinhavam estas águas, este piloto, a escuridão dos pampeiros, os raios na travessia, muito arco-íris ali oculto para sempre, o grosso do sol e das sombras de Marajó e Maguari, nessas linhas tão embaraçadas de maré, faróis, currais de peixe e mastreações, correntes, gulosidades de areia e lama, pedras e mangues do Cabo ao Cabo.
Tio Antônio afrouxou a escota, a vela rente a água, esta nem encaracolada. Feita de dois panos, pardo e claro. a bijarruna, tão de valia no sustento do barco, entesou, a seu gosto. Muito do bom navegar em veleiro está na proa para as atravessações da baía, em demorosas bolinas no lavradão liso de vento: a bijarruna, tão mirim ao figurar com as velas, capaz era de virar barco, meter a proa no fundo. Agora divertida, entesa, paneja com a ração de vento em popa e faz o seu aceno à ilha das Pombas, embocadura do Arari. A ilha navegava? Da folhagem içava as velas? Do seu fundo fumegavam as caldeiras, saindo o chaminé dos miritizeiros? Na proa, o tio Sebastião, silencioso, erecto como o terceiro mastro.
— A bijarruna sustenta a força do barco, o sr. disse, titio? E o leme? Eu queria saber onde é a bita é o que prende o ferro?
— Das artes da navegação, meu sobrinho, conversa com o teu tio ali.
— A ilha, então, anda?
— Qual? Aquela? Disque sim.
Era saber pouco. O tio escasso de língua. Dolores? A normalista? Uma do Rio, quantas?
— Sino, relincho, galo, um latir, de sereia a cantiga, os pescadores escutavam.
O tio falava distante. Era mesmo da ilha que falava? Ou da ilha, na São Mateus, aparecendo na janela?
— Escutavam e dali pediam distância.
— Ouvia-se? E depois, a ilha?
— Quem peito tinha para ver de perto virava no mesmo que chegava, voltava, sentindo toda a vida o mau olhado, aquele sempre doer a cabeça, 235 Alfredo repetia: sino, relincho, um latir, galo, de sereia a cantiga. A ilha ou Dolores? O tio numa voz longe.
— De dia era ilha inocente. Dava casca de mangue a quem quisesse e num só ponto havia sinal de encantado. Entre os ajuruzeiros da prainha doutro lado, o pescador que quisesse entrar, tinha de dizer aos dois passarinhos ali de guarda: Maçarico, maçariquinho, licença para uns ajurus? O maçarico macho inclinava a cabeça que sim.
Alfredo num capricho de entender: sino, a igreja de Cachoeira onde Dolores se encontrou com o tio e aí, contavam as bocas na sombra, na Eva tornou-se e o tio, Adão, um São Benedito aceitando a maçã. Relincho, o cavalo que os dois montaram numa noite. Alfredo soube iam embora, fugitivos, Dolores na garupa, o cavalo relinchando. De repente, voltaram de galope, ela pulou na beirada. Um latir, o galo, a cantiga, aqui se misturavam, era o tio, era Dolores, agora doendo no tio, sobretudo o latir da cachorra e o cantar da sereia, no meio o galo de asa murcha aqui no barco, contando estórias da ilha. O tio calou-se sofrendo a sua roedeira? Estava ouvindo o sino, o relincho, o latir, a cantiga, na janela da São Mateus. E viu de perto a ilha, de perto a moça na janela, voltou com mau olhado, sempre o doer na cabeça, mais no peito.
— Lhe doendo a cabeça, titio?
— Eu?
Pouco ventava mesmo, sopro do geral ou aragem ponteira, lembrando a Alfredo aqueles ventos do campo, curiosos de Maninha, do prelinho dido, as frinchas, a careca do pai, cata-ventos de papel feitos pela mãe com aquele barulhinho especial que faz o beija-flor na flor. Ventos cheirando a sol e a gado no atoleiro, a fogo nas pastagens, a Andreza no Por-Enquanto. E os bons sopros do verão dizendo que as fruteiras do mato derramavam no chão seus murucis, seus puruís, tanta pixuna, e bacuris e tucumãs. quanto inajá, também abio e mucajá, piquiá, muito; aqueles que traziam à sesta do Major, um e outro urro das lonjuras, o golpe no ar de um pássaro desconhecido, lá se indo, nos combates com os gaviões. O «Santo Afonso» sabia 236 desses ventos na vela, neles descansava dos outros de mau gênio, que rasgam pano, quebram mastro. Na popa, o tio Antônio conhecia os de bom gênio muitíssimo bem, como se os tivesse soltado da camarinha, do sovaco e de debaixo do pé. Tio Antônio! Estava ali ao pé do tio, sem dizer palavra: que vontade de lhe passar a mão no rosto, e no seu braço de piloto, ah, varou quantidades de distância. quanta noite escurona, aquelas do Maguari, desovadas do oceano, mugindo nos mastros com trovão em cima e em baixo trovão d’água.
Vagarosamente o barco passava defronte da ilha sob as salvas do passarinhal repentino que se espalhou no céu há pouco borrifado por uma nuvem chuvisqueira enquanto as águas da baía, acesa, no último sol e com as primeiras sombras, queimavam ao longe um veleiro de misterioso rumo.
D. Cecé estará chegando a Muaná? E lá se ia o seu Antonino, em busca da coroa. Direito foi eu deixar ir a d. Celeste inocente-inocente? Este tanto me preocupar me diz que não? Acabei ingrato? A ela, a ele, a ambos enganei, por não lhes dizer que estavam se enganando? Quem me explica? Das três Celestes qual a própria? Ou sem as três não é d. Celeste?
A ilha defronte, os dois tios, o navegar deste barco. o agrado dos tripulantes ,não amaciam este asperume aqui dentro misturado ao querer saber quem, quem vai aí debaixo do toldo, a metida na rede, no ponto de ter filho? Dela, só de rabo de olho: a perna de fora, bonita perna. As suas poucas palavras, baixo, acudia o tio Sebastião. muito expedito. E só. Ó ilha, vamos, navega! D. Celeste vê no ar o sobrado de azulejos e entra, coroada de diamantes, nos braços do garimpeiro.
Navega, navega! Desesconde os teus panos, teus tripulantes da toca, a proa qual é? Ou sais de máquina, teu leme, as rodas de lado, só na meia-noite? És uma barca portuguesa?
Essas perguntas dormidas na antiga curiosidade, agora acordavam, acesas pela imaginação, pelo descobrimento da ilha, nunca assim tão perto de seus olhos e da pressa de 237 esquecer Belém. Queria soprar as perguntas num búzio para as tripulações da baía, pescadores, pedindo que confirmassem: a ilha navega, sim. Como se isso o ajudasse a decifrar uma porção de enigmas propostos à sua idade e um pouco explicar-lhe o que, lá atrás, em Belém sucedia. Haverá no mundo maior inocência que aquela em que vai a d. Celeste? Estes dois tios nem haviam de crer. Melhor que nunca saibam. O passeio dela — também voltou meia-noite — quem decifrava? Ilha, ilha, faz ao menos um jeito de quem levanta ferro. Se ao menos levasses a senhora dos azulejos, a senhora Mac-Donald. Não, não. chorar não quero, que basta o que escondidinho na rede chorei pela menina que fugiu com o Pégaso. Não quero nem imaginar a d. Cecé, com o seu Belerofonte é belo a correr para sua casa...
— Café, meu sobrinho?
Sempre nos seus agrados, o tio Antônio, muito prazenteiro. O «Santo Afonso» entrava macio no colchão de espuma e embalo nos pedrais ou ao longe salpicando alvura na praia avermelhada.
Faltava ânimo de perguntar ao tio, este, por certo, prazeroso em escutá-lo, responder-lhe tudo, dicionário que era das navegagens. Tio Antônio movia a cana do leme, num ar distraído, como se pilotar fosse assim mesmo, parecendo sem mistério, tão simples quanto devia ser tão complicado. Para chegar àquela fingida distração, quantos anos de pilotar. De sua família aquele tio! Filho do cesteiro e paneireiro Bibiano, dos pretos de Areinha. Então o sr. um dia, há muitos anos, agora que eu soube na festa da surpresa, o sr. deu na minha mãe para saber de quem o primeiro filho dela? Com que ordem? O sr., agora tão incapaz dç se atrever a ralhar um sobrinho, até mesmo se fazendo «ora, quem sou eu» diante do sobrinho que estuda, o sr. bateu, ripou as costas de minha mãe, sua irmã, pessoa de seu sangue, já crescida, dar numa moça feita? Era pai, avo, tio, padrinho para semelhante proceder? Fosse agora na sua idade e ela menina, vá lá, para uma correção. Mas um rapaz, a barba nem picando e de chicote em cima de quem ia ter um filho, sem saber que o silêncio dela era a sua melhor honra? Agora, me diga: 238 quantas, e sem irmão pra acudir, esse seu bom mano, o Sebastião, já não galou do Juruá ao Rio? O sr. mesmo — que a mãe falava, coitada, nem ressentida, por satisfeita falar de um irmão, um regular piloto, não rejeitava festa nem saia — quantas o sr. também? Os filhos que abençoa fora de casa? Nos cochichos de Areinha, o tio Antônio assim figurava: mas me diz, sem-vergonha, quem é o autor, o pai! E a mãe, de ferro, arre! morria mas não dizia. Doeu que me doeu ouvir mas depois bem gostando da parte em que ela: dá, mas não falo! E quem sabe não bebe escondido pelo desgosto de se ver ripada entre os alheios pelo irmão mais velho, ou por ter desgostado o irmão, este a surrá-la mas ele mesmo sentindo a surra mais que a própria irmã, vá a gente entender, navega, ilha das Pombas. Da tarde, esta, faz depressa meia-noite.
Estava ali no leme, senhor da viagem, aquele homem alto, partido do lado o cabelo, não tanto duro, pincelado aqui e ali de alvo, mais nas têmporas, a boca sem grandes lábios, curta e imediata para as vozes da pilotagem. Tio Antônio no pilotar, no comer, conversando, dormindo, tinha a aparência das pessoas duma fidalguia negra, sua delicadeza, arrojo, perícia sem pavonice nenhuma mas seu orgulho. E o olhar dele no tempo, na água, mato, boca do rio, certeiro?
E aqui sem ânimo de lhe perguntar se a ilha... Valia mais não perguntar. Ilhazinha sortida de palmeiras, a cinta de aningal, beiçuda de pedra. Enterraram afogados ali? Sepultava uma tripulação inteira, virando agora a ilha em navio, em barca, e lá se iam os finados a navegar?
O tio, dono deste leme, deste barco pertencia aos Abreus, (fazendeiros no Arari), virava o rosto para o restinho da tarde que ia se embora. Deu com os olhos no sobrinho, sorriu-lhe. Sorria mais nos olhos, seu negrume no sisudo acolhimento, o seu agradar um pouco semelhante ao que se via na mãe, quando esta, sozinha, conversava com as pessoas de sua maior simpatia ou com as mais desvalidas, a Andreza, por exemplo. Nos olhos do tio o contentamento pelo sobrinho no barco. Um passageiro da família pagava a pena de ter que levar quase sempre um e outro Abreu, esses brancos cheios de tanto titi, 239 brancões bacharéis bem burros. Com os brancos — a mãe contava — o tio Antônio carregava uma dureza, até exagerava. Trabalhava pontual no regulamento mas seco, no barco pegou no leme quem manda aqui sou eu, propriedade é lá nas leis, no cartório, aqui na lei do mar eu. Os Abreus engoliam. Não eram tão maus brancos, muito viajados, bem dados, finórios que só o diabo.
Sorrindo, não, tio Antônio? Seu sobrinho está muito satisfeito em viajar com o sr. no «Santo Afonso». Sei que está bem contente em me levar como seu passageiro. Sou um ilustre, que diga o pupunheiro do largo da Pólvora, a Arlinda que eu não soube defender, e o mais. Mas pensa que não me dói a coça que deu na sua irmã? Fique o sr. sabendo, naquilo não passo a esponja, seja o sr. o maior piloto, o mais amoroso irmão, o capaz de morrer salvando minha mãe numa alagação ou este seu sobrinho se esta verga me atirasse n’água.
Mas se não tiro o tio do purgatório, também deste quem vai me tirar, pelo que fiz e pelo que sei em Belém? Não deixei a d. Celeste ir que nem um passarinho cego a Muaná? O melhor é dar um suspirinho e passar desta borda para a outra, beber água de coco, esta que o tripulante me dá.
O «Santo Afonso» ia buscar gado no Alto Arari. Encostaria em Santana, quase na boca do rio. Subiria de madrugada com a enchente. Entrando no Arari, qual cavaleiro em tarde de procissão, enfiando a lança na argolinha, assim nesta o tio Antônio enfiava o barco. Não podia bater na ponta de pedra que armava suas ciladas sem nenhuma espuma? Este lisinho que se fingia fundo? E os rasos, puas de pedra, prontas a abrir o casco? O tio, dono era da entrada do rio, morador da baía, sua confidente, des que se entendeu. Mas sabedor também das viagens e peripécias da ilhinha viajante? Viajas, ilha? Todos não contavam? Todos, minto, do Tio Antônio ainda nem uma palavra. Pessoal embarcado, Lucíola; Danilo, até Andreza tirava estória das navegações da ilha. Só na meia-noite, diziam. Quando dava meia-noite em ponto. E como a ilha ia saber que era meia-noite, qual o relógio? A lonjura dava licença para ver os ponteiros da cidade, calcular, pelos apitos da Usina, Utinga e olaria 240 do Arapiranga, a aproximação da meia-noite? A meia-noite para a ilha era anunciada por quem? Em que relógio de barco, ou do meu e teu imaginar, nosso medo, o nosso estar tão só e da nossa outra sede? Talvez a maré avisasse: ilha, já são horas, acorda teus tripulantes, suspende ferro, vamos. A mesma maré levando o navio, ou barca de velame que embranqueceu de velhinho, naus de livro que lhe mostrou a professora Maria Loureiro Miranda ou dos registros da Nossa Senhora de Nazaré quando esta salvou o brigue do d. Fuas.
Ilha das Pombas, destas nem uma pena. Desde menino ouvia, sabia, duvidava, acreditava, e queria, hoje mais do que nunca, saber, senão depois não sabia mais. Vinha de férias, ou fugindo das moscas e dos anjinhos esperando cova, que o céu, este, só mesmo nas pinturas? Sentia-se quase todo fora de sua casca, custosa casca, puxa! Queria saborear com a sua saudade um chão e um rio que lhe pareciam perdidos para sempre, vistos agora com o olhar de quem viu duas cidades (ou três?); o coração desabotoava-se, quero que navegues, ilha veleira. A mãe sabia dos contos da ilha. Falava uma e outra vez, só para avisar: de tudo isto eu sei. Nunca dizia se acreditava ou não. Nisso era habituada, em muitas coisas a mais misteriosa. Também falar em presença do pai, não valia, porque o pai: Pura potoca. Povo carregado de superstição. Alguma ilha anda? Só se for com as vossas pernas, com as asas... O pai queria lembrar as asas que leu na mitologia, esquecia. E agora: se vai saber que a ilha não é nem vapor nem nau, melhor que nunca digam, que eu finja nunca saber a verdade. Não navegar diminuía algo que, embora não definido ou claro, era um dom do seu espírito. Por isso temia perguntar ao tio, que o tio seria capaz de responder: Essa gente que imagina... Sendo o tio um homem verdadeiro, adeus ilha navegante. Mas verdade assim não é tão só um duro desmentido? A curiosidade devia bastar-se a si mesma, irmã da imaginação? Então, escurinho e distante, o caroço de tucumã podia socorrê-lo, saltando na palma da mão e dizer: quem que disse que a ilha não navega? Sim, vapor ou caravela, o que seja, faz as suas viagens.
241 A mãe, no chalé, nem sim nem não, dizia. Coisas tão necessários de ser ditas a filho, a mãe não dizia, ficavam no silêncio dela, sumidas no pretume como a quilha deste barco no rio. Duas ilhas, neste instante: essa de fora, se navega ou não navega e esta aqui na rede, o filho por nascer.
No que ia vendo o barco no rio, ia também colhendo o rosto da mãe em seus mais miúdos ternos momentos. os muitos rostos dela no tempo, na janela, ao pé do poço ou da filha morta, refletidos na cuia d’água, no espelho da festa de Areinha, os traços, antes invisíveis. agora descobertos, espalhados na ilha, na espuma e correnteza, no virar da vela. Aquela viagem em que ela o levou para Belém se misturava nesta. Quando o «Santo Afonso» aparecesse no estirão de Cachoeira, já na ribanceira estaria ela? Em que estado? Sem o torcimento de boca, sinal do Cão?
Ao indagar isso, se arrepiou, constrangido, maldoso. contaminado, fechou os punhos, receoso de ser visto assim. Aos tios era fácil ver nessa ainda pouca água que era ele o muito limo que tinha. Para fugir, quis saltar pelo barco. ir à proa indagar do tio Sebastião e colher deste aquela certeza, para poder chegar em Cachoeira e apanhar a mãe pela ponta do queixo: Pois, mamãe, a ilha das Pombas anda sim que eu vi. Navegava que navegava. A maré marcou meia-noite, a ilha já não estava mais no lugar, varando a cerração da baía. No lugar dela um poço onde as águas em roda não entravam. Moradia de cobra, da tripulação, de coisas que não se sabe nunca?
Ou certos pilotos ,certos pescadores, era que alcançavam a graça de ver a ilha navegando, vendo a própria baía aumentar de tamanho para a ilha viajar mais à vontade, ter nas rotas encantadas os portos que quisesse?
— Tio Sebastião, olhe que eu não conto pra Dolores o que vi na Inocentes, mas em troca me diga. Que segredo então este-um aí debaixo do toldo? Está esperando que eu adivinhe? A dona tem culpa? De ter um filho? Ou é só o medo do filho virar anjinho em Belém? Mas por que o segredo? Dela, na vista, só aquela acuceneira dentro do paneiro.
242 O tio, dedo ao lábio, as sobrancelhas coçando. Agora pouco do militar restava no tio. Exibia mais na mala que no corpo os uniformes, mais nas fotografias tiradas no Rio que em pessoa. A grande cápsula da bala da revolta de 22 ia ornamentar a saleta do pai, servir de peso a papéis e catálogos do Major. Chegou falando muito de ondas hertzianas, com um nome: Marconi. Alfredo queria ver no rio as tais ondas que traziam vozes, o tio: mas não, meu sobrinho, as ondas são outras, no invisível. Por isso, Alfredo acreditava na presença, invisível, de Lucíola. O tio mostrou-lhe as perneiras, dentro da mala, espelhando. O Major tinha avisado: vai, embarca como voluntário mas não lustra as perneiras, depois grita «Aqui d’el rei». O Major falava do pai, o tenente Coimbra, que guerreou. entrou com as tropas, em Assunção. Ganhou condecoração e veio caçar ladrões de gado no Arari. Sabedor do voluntariado de Sebastião, o Major instruiu a irmã dele a escrever-lhe as regras de um bom soldado. Parecia até conhecer os regulamentos militares, recordando os rigores da caserna, tempo da monarquia, Laguna, a orelha do Lopes cortada, o menino paraguaio, tão bravo, degolado pelo seu heróico atrevimento, as tantas do Conde francês, os calça encarnada em Belém de volta, o «vejam como morre um general brasileiro» escrito na estátua do Largo do Palácio. Segundo o pensar de d. Amélia, o Major cuidou em ser, pelo seu tempo de mocinho, um tenente como o pai, pelo menos tenente de uniforme de gala, pois em Belém gostava de levá-la nas paradas, não escondia seu prazer, a admiração, o respeito pelo desfile, tinir de espora e espada, pompa dos cavalos, o lustro das armas, botinas e metais. Andasse o Sebastião sempre limpo de botão e perneira e podia exibir a todo mundo o seu documento militar. E sem mais: Entendo que os exércitos devem acabar. Este nosso? Come demais o orçamento. Na campanha do Rui, no civilismo, fiquei do lado de Hermes. O Rui é um rouxinol. Entende da gramática e do direito e não da política. Mas os militares devem acabar.
— Ora, você, seu Alberto, um tão desajeitado, sempre a calça no rendengue, sem nunca saber dar o laço da gravata, veste a meia do avesso, abotoar os punhos, quem 243 disse? e é um Deus nos acuda ao colocar o colarinho... podia ser um tenente? E acabar com o exército? Entenda-se, entenda-se.
D. Amélia falou que ele se regulava ainda pelas disciplinas e bordados da monarquia. Acabou a calça de guará. Muita coisa, depois da lei da Princesa e da República, devia ter mudado ou andar mudando, acrescente a guerra mundial. Veja pelos catálogos. Seu Alberto se gabava de coisas que tinham tido a sua terminação. Aí a mãe gracejava. Fosse ver aqui no chalé o Major da Guarda Nacional. Cadê o uniforme branco trazido pelo dr. Bezerra. No fundo da mala, entre o chernoviz e um antigo espartilho. só ficava o quepe e o galão. A calça era o uniforme do impressor da dido, o dólmã muitas vezes travesseiro da cachorra, os botões os guris da rua de baixo levavam. Onde o capricho militar. Era só dizer e não fazer?
— Sou Major, não pela Guarda Nacional, mas pelas minhas artes, rapariga.
Ela, por sua vez, de farda não desgostava, mas não tinha paixão. Criou ojeriza foi a emprego de embarcadiço. Filho dela, por seu gosto, nunca havia de andar embarcado. E seu castigo, castigo de toda a família, era seus irmãos, menos um, doidando pelo mundo, outros por mau fado embarcadiços. Aquele, então, o Antônio se consumia nas mais arriscosas pilotagens, por esses tantos mares sem farol nem telégrafo nem reza que lhe valesse. Antônio era chegar virava, mão dele e cana de leme nasceram gêmeas. Sua bebida era barco. Pegasse um leme, estava satisfeito. Sempre ela esperava — que Deus o livre, por um portador ou aviso das almas — o afundamento do barco; sim que alagação já houve e sempre o Antônio se livrava, por oração ou bom guia, salvando sempre o barco. como naquele mês que tirou o «São Jorge» da lama gulosa, na Costa. Tão enfeitiçado pelos barcos como nunca se viu. fadado a ter seu fim pilotando.
Contar que apanhou dele, isto, jamais. Dessa passagem a mãe se guardava e não era por isso que certos silêncios dela lhe tornavam mais escuro o rosto, convulsa a boca ao sair da dispensa? Tio Antônio. muito curumim levado pelo dom, começou fazendo gravetos pro 244 o cozi|nheiro ,depois cozinhando, sobe mastro, engancha, desengancha nó, recolhe pano, içou, arriou, baldeou, fundeou. desceu ao fundo para ver o ferro, toda a carreira até piloto; quanta trovoada fustigou seu corpo. Bem feito. Não fustigou a irmã? A mãe, era ouvir o nome do irmão, não ficava prosa por não ser de sua índole, mas se via o entre-sorriso.
Neste instante, Alfredo joga n’água livro, professora, Barão, o francês do Cara-Longe, a deusa de seu Antonino. nascendo do casco de caranguejo, que todos viessem a este colégio; em vez do perfume da professora Maria Loureiro Miranda, este cheiro de cabos, bijarruna, bailéu, esta mão preta do leme, entrando no rio.
— Agora o meu bom sobrinho vai passar a noite em Santana. Tem uma festa. Dançar não sabe? Pois aprende.
Assim falou o tio que entregou o leme ao tripulante, pediu café, deu um bom suspiro, consultou se deviam jantar a bordo ou na festa. Apetecia-lhe aquele gordo cozido de pescada sobrando do almoço.
— Pra vocês dois, em terra tem banquete.
O tio Sebastião, na popa, acenava para a beirada escumosa. Parecia mais alto, silencioso, como se estivesse se restituindo a estas paragens, esquecidas no Rio de Janeiro. Olhando o tio assim, Alfredo, de repente se culpou: no seu magma-magma, nem se lembrava de Libânia e do Antônio, o amarelinho, principalmente este para juntos desatar o nó da ilha das Pombas. Criado nas Ilhas, Antônio sabia o dom delas, com o faro em cima do que faziam pelo escondido das noites. Antônio mariscava para as cobras de poço, contou uma vez que levou comida num balaio para uma boiúna no Guamá, esta lhe agradeceu, desceram ao poço, que aconteceu no fundo, o Antônio nunca disse. E aqui bastava ver a ilha para avaliar. Devia trocar perna no Acará o perninha de grilo. Ou remando nos rios verdes de cima, ao pé do forno da feiticeira velha, ali com Deus te ajude.
— Estudou muito?
O tio Antônio perguntava. Assustou-se, respondendo, no Virar a mão que: mais ou menos. Um pouco se sentia 245 na obrigação de dar melhor resposta, até julgando que o tio, também trabalhava, corria perigos, cumpria o fado do mar, para vê-lo estudando, vê-lo doutor, moreninho mas doutor. Mas mais doutor que aquele tio? Doutor, não, almirante, não de uniforme, sim pelo porte, o negror da face, o meio cerimonioso em dar uma ordem, o olhar na proa e o «Santo Afonso», manso, na maior obediência.
E não sabia como se distribuir entre os dois tios, entre o mistério do toldo e o trabalho de atirar fora os pesadelos de Belém. Queria ouvir ao mesmo tempo o tio Antônio e o tio Sebastião que lhe diriam coisas de que tinha muita fome, para limpar seu limo. Pelo menos, das duas ilhas, uma, por certo, ia desencantar, esta no toldo. O tio Sebastião dava um sorriso muito para desconfiar. Se fosse de novo a Irene, raça de parideira, pegando filho como caroço de açaí na várzea? A Dolores fugindo da família, cheia de um filho não do tio, este no sul, agora se valendo dele? Era. Outra não era! Mas quando a viu na Basílica, estava grávida? O tio carregando a que emprenhou do outro? Bem, estava pra ser mãe? Se valeu do tio? Eu também trazia. Mas não. A perna vista não era a alvinha de Dolores, não.
Arriou ferro. Tio Antônio não atracou. Desembarcariam num bote. Bom este baixar de vela, as vergas se acomodando, tudo isso fazia sentar as coisas dentro do peito. De repente gritos cruzados de barcos, montarias. de terra. No escurecimento da noite, sozinho Alfredo sentiu-se, assim como se lhe doesse estar voltando a Marajó, com um pressentimento a lhe dizer: te fias que voltas a Belém? Adeus, estudo. Uma coisa te prende neste escurecer, nestes gritos, como este ferro no fundo. Ou é a morte da mãe e Andreza para sempre, para sempre perdida?
O rio, com o seu silêncio, entrou em Alfredo como um sono.
Quis só ter olhos para Santana. Mas sem desembarcar no trapiche nem iria ver a casa de pedra e telha onde passavam o verão as moças fazendeiras. Na varanda 246 contava o pai, ficava armada a rede do dr. Bezerra, larga como um leito, embaixo a marrequinha mansa beliscando o pão. Santos de uma tal beleza, segundo o dizer da mãe, moravam na capela. Podia ver? Casa, capela, santos, tudo proibido de olhar. Sairia dali algum caminho invisível para a ilha das Pombas? Os santos, se falava em Cachoeira, tinham um tal brilho que, em certas noites, saia pelo telhado a sua cor de ouro, dourando na sombra os morcegos e as corujas. Agora estava muito escuro, os santos não se acendiam ou varavam o invisível até a ilha das Pombas para navegar? Convento foi, em Santana, também engenho, os frades moeram cana, moeram escravo no tronco de espinho, restava ainda a calha d’água. Tio Sebastião contava, primo Pio, morador de Santana, agora ausente, confirmava. Na capela, depois da meia-noite os frades rezavam missa? Seus cativos africanos, agora soltos na desforra, permitiam? Desapontado, Alfredo não via nem ouvia. Do barco se olhava a beirada de breu. Santana também proibida. Tudo em redor recendia a encantado. Uma bela tarde, foi tomar banho no rio a moça Jacirema, jacaré levou ela prum perau, poço muito do fundo, de onde borbulhava suspiro e queixa da prisioneira. Lua cheia, quando muito calmo o rio, assim pela madrugada, um ai! ai!, mas por demais sentido, corria na flor d’água.
Tio Antônio tomou o seu banho de balde na proa, o mesmo fez Alfredo. O outro tio, não. Espiou para não ser visto na camarinha onde a senhora não dava nem sinal, e caiu n’água, em pelo, dizendo que ia dar boa noite aos jacarés, levar notícias do Rio e de Belém à moça Jacirema. «Olha, olha, jacaré», avisou o irmão. Mas o teimoso deitou-se macio no colo da água onde via o paraíso. Na verga do primeiro mastro, Alfredo só olhava. O nadador, à luz da proa, boiava como se viesse cheio de escamas, oleoso de sementes. Fazia barulho, batendo mapoonga para espantar jacaré e gritava: boa-noite, meu tinga. Meu açu! Me leva um recado pra Jacirema. Ó Jacirema, rapariga, estás me escutando? Com o rei dos jacarés, casaste? Ou foi o capitão da ilha que te mandou buscar?
Alfredo, desinquieto, entre as antigas assombrações que o tio lhe despertou. Mas acreditar acreditava? Fosse 247 mais menino, sim, Lucíola ,foi o que fez, incutiu nele tanta estória, visões, certeza de que o rio virava gente. A própria mãe, zombeteira de tudo isso, não cantou naquela noite de São Marçal a morte do rio? Mas agora? Não era mais? Idade, Barão, a Passagem, lhe arrancavam a fantasia. Ao deixar de acreditar, doía? O tio n’água, nos gritos, a alegria dele, — erê, mãe do rio, me coça o peito! — lhe tirava as crenças? E vinha o nadador por baixo do barco, roçando na quilha, bateu no costado, falou alto da tarde em que a irmã, a Amélia, quase quase, na frente de Araquiçaua, ia para o céu por dentro de um açu biguane comedor dos patos de seu Reis.
— Comigo, não, que me curei.
— Fazendo assim barulho, até eu sou curado.
Foguete nas bandas do barracão da festa, chamando para a ladainha. A capela pendurava sino? Chega, meu tio, desse banho arriscoso. Não impaciente os jacarés que são bons de gênio. Nas intimidades com a sua comadre água, o tio virava muçu.
Alfredo correu para a popa, escutou: roncava a baía. Bom estar aqui a salvo enquanto lá fora cai que tempo! Ao pé do leme, o tio chamou-o, lhe mostrou coisa semelhante a cobra peixe raiz, não viu bem: tio e água num demais pegadio. Depois o muçu sumiu-se. Alfredo quis chamar, escutou, já noutro ponto, em cima dum pau de bubuia, o assobiar do peixe negro. Apitou lancha — «Ondina»? — vozes de uma canoa que passava e luz nenhuma na casa grande, na capela nem dos santos de Santana. Alfredo instava para que o tio largasse o banho. O tio ali agarrado. Não só nas águas se banhava mas nas lembranças do Arari, encontros com a Dolores, como se ela estivesse pelo remanso, amorosa no seu ninho de espuma. Tio Sebastião queria soltar no fundo as tantas contrariedades, as notícias sobre Dolores, Dolores indo e vindo de Belém a Cachoeira, toda a tarde na janela de São Mateus, o carmim na boca, saindo do Bosque? Esperando a volta do tio ,viajava o seu desassossego? Daqueles dois qual o mais teimante? Dolores. e o tio porfiavam em saber qual feria mais, qual ganhava? Incandescente com o alvor de Dolores era o negror do tio.
248 Tempo-tempo que Alfredo não via, e ao vê-la teve um dos seus espantos: A Dolores bem mudada, adeus que era a empoada de farinha de trigo, no balcão vendendo roscas, não mais aquelazinha curiosa e assustada dos primeiros dias da São Mateus. Carmim no beiço, as orelhas enfeitou, um ar conhecedor de coisas, loja, bonde, passeio. e no falar usava mais esses. Viu-a junto da coluna na Basílica de Nazaré, missa das dez, domingo. Por efeito, talvez das luzes do fundo, dos altares acesos, o gemer do órgão, a cerimonia da missa, Dolores parecia ir num repente meter-se num daqueles vitrais lá de cima. Não rezava nem ajoelhava, ao pé da coluna, muda, à espera de ser colocada no altar. A dois passos dela, o cabo fardado, sério. Quem tinha vindo do Rio, ele ou ela? Para não olhar a namorada, tio Sebastião ficava admirando miudinho coisa por coisa na Basílica. Alfredo quis sair, ver Dolores fora dos vitrais, da música, da missa, vê-la de carne e osso no largo de Nazaré. E o seu espanto crescia: Deus! só uma formiga do diabo tinha tal força de fazer moça tão branca, como se fosse a luz por dentro, estar ali ao pé do tio, O tio feito um que nunca viu igreja, no mesmo disfarçar, pois da Basílica ele só via Dolores. Missa era só ela.
Nem a mão da moça o tio pegou, ambos encabulados. Na porta da Basílica, feito um general, ele avançou para o largo com um andar de quem desfila, sempre a dois passos dela. Ela ajeitou o chapéu, tinha o perfume diferente das professoras, esperou o bonde. Tio e Dolores não se falavam. Ambos nos seus orgulhos. Ela sem sinal de que conhecia semelhante cabo. O cabo na mesma moeda, Depois foi o tio dizendo-lhe, baixo: até.
Ela tomou o bonde, unicamente dela, enchendo o bonde com as cores de seu vestido, as fitas do chapéu, o perfume, o saber sentar que a cidade lhe ensinava, nem uma vez se dobrou para ver tio e sobrinho. Alfredo se lembrou do caso de seu pai e mãe. Ia se repetir nesses dois de agora, sendo preto o homem e a mulher branca? Os dois faziam um par ou de muito escândalo ou de muita admiração e benza-te Deus. Houve um instante, no caminho entre a Basílica e a parada de bonde, que o tio emparelhou com 249 ela, alto e sério: dela o branco e dele o preto. o casal não produzia surpresa nem zombaria — Alfredo notava —mas espanto aprovador. Viam no preto e na branca, o Adão e a Eva que viessem unir as raças e começar de novo o mundo.
— Chega de banho, rapaz, vamos pra ladainha.
O grito do tio Antônio ecoou pela beirada. Do tio Sebastião nem um sinal?
— Vá ver que jacaré levou ele, gracejou o tio Antônio vestindo a sua camisa branca. Um foguete acendeu-se. estalou, e Alfredo descobriu o tio na praia, no mais escuro, mas quem? Quem que via pensativo, quem? O tio? O tio triste? Que tristição essa, meu comedor de gordura de cobra, pela taoca mordido? Postema no peito? O rio lhe deu na fraqueza, como quem come mocotó? Conversando com os caruanas?
— Tio, na hora!
Pulou no bailéu escorrendo, aquele veludo molhado.
No toldo, à luz do farol, a passageira, de costas, penteava-se. Pelo tom respeitoso, com que falava à dona, o tio Sebastião não tinha a menor com a mulher, Alfredo entendeu, e isso complicou mais um pouco a curiosidade e o mistério. Por entre o mato, acendeu-se um farol. ou facho, apagou-se; pelo sopro, desembarcou um clarinete, ensaiando, deu uma nota alta que embebeu na folhagem e ficou ressoando.
No toldo o tio e a desconhecida conversavam. O tio veio.
— Meu filho, tu não podes agora saber quem essa senhora é.
Alfredo, num desamparo. Por que me trouxe nesta viagem? Os tios prontos para desembarcar. Em cima do toldo, na sombra, a mulher, de costas, ia, pela mão, do tio Sabá, descendo para a catraia. Alta era, um pano no ombro, o vagar das prenhas. Descia também na mão do tripulante o pé da açucena. Alfredo via na mulher a cidade salvando suas crianças, a moça do gergelim cobrindo o rosto num terrível espanto diante da espada e da pata 250 do cavalo... As duas ilhas desta noite não decifrou. O rio afogava as últimas vozes de Belém, engolia o jogo, a conferencia dos doutores, toda a cavalaria. Voltavam a coaxar as ciganas, na faixa do aningal. Em vez de alívio de ter deixado Belém, Alfredo num azedume, fora daquela conspiração em torno da passageira, no sentir-se só que lhe grudava os pés no barco. Tinha aqui fora aprendido muito mais que no Barão. Ainda não era para quebrar num baile, como os tios? Não saber as coisas, eis o conselho dos mais velhos. Não saber as coisas! No baile da Semíramis, as meninas riam dele. A ladainha e festa iam fazer principiar dentro dele o rapaz? Melhor dar parte de doente, dormir no barco. E ânimo de ficar só, Deus deu? Pelo menos, no barco ancorado em posição de enxergar a ilha. A baía urrando o seu mau tempo. Lembrou uma viagem com o pai, passando a noite no Araquiçaua, o trovoar longo e longe da baía lhe causava fascinação, terror, o seu travesseiro na rede. Aqui zoava mais grosso, mais verdadeiro, figurando um monstro com seus arpões de vento e raio em cima dos navegantes.
Tentava distinguir a casa grande entre os coqueiros. Só via pedra ou que julgava ser pedra. Dava um respeito o pedregal no escuro, as velhas pedras, pedra, pedra, com que queria feito o chalé de Cachoeira, dela devia ser a pedrona inteira da igreja de Santo Alexandre onde, cumprindo pena, secou a moça, por malvadeza com a mãe. Pedra, de que era feito o Araquiçaua — quem sabe também o seu Raimundo Reis, um homem de pedra, na cabeça do trapiche olhando os seus bodes? Pedra a beira de Santana, onde muita gente desejava ver a sede do município, não mais em Cachoeira. Pedra que ali era! Um sangue duro, entre barro, a areia, a lama, os siris da maré. Como no Araquiçaua, entre pedra e calha d’água deixada pelos frades. Agora dos frades tudo caindo, menos os paredões de pedra. Os pretos carregavam a pedra, da pedra tudo fazem, menos sua casa e sua liberdade. Deles — pisando pedra — veio a mãe, os tios, deles o sangue que queima o peito ao ver pedra; queria furar aqui. ali, e ver onde os pretos de Santana guardaram as suas lágrimas e o seu cantar. De que escravos vinha a família? Da África a primeira carga?
Todos aqueles pretos e pretas do Arari, Ponta de Pedras, Itacuã, Araquiçaua, Santana, os negros do Igarapé Panema, Muaná, todos de sua família trabalhando para os frades, os viscondes, tinham feito aquele forno de padaria do Araquiçaua que mais semelhava, certas noites, uma grande sepultura para os viscondes e os freis. Bem que o preto Bernabé do Araquiçaua, aleijado de jacaré, deve ter chegado para a ladainha. Jacaré comendo a Clara, levando a Jacirema. quase levou a mãe. E estavam sumidos os paredões de pedra, a mãe gostaria de morar num chalé de pedra aqui em Santana, vizinho da baía. Daqui de Santana, no bem calmo da noite, se podia ver o clarão da cidade que gostava de comparar com a aurora boreal, vista no dicionário. Agora, o clarão era o velório dos mil anjos.
Tio Sebastião tocou-lhe o ombro.
— No barco fica o menino. Vai saltar um cavalheiro. No barco ficava o menino. As calças curtas não queriam dizer nada? E a voz de frango que já se ouvia?
Alfredo escutava, querendo saber mais de sua voz, seu crescimento, seu fôlego de passar uma noite dançando. Encabulou. Temeu que o tio caçoasse. Com muita pena pediu que o tio falasse de Santana — já estava em terra a que vai ter um filho? — Dolores gostava mesmo dele? Pergunta que não fez por saber maldosa, deu-lhe a satisfação vingativa de espicaçar o tio, O tio começou a falar dos frades de Santana. Os frades surravam o escravo, se ouvia gemer negro nos ferros e nos espinhos do tucumãzeiro.
— Esses frades só a fogo.
Esquisito, pensou Alfredo. Seu tio havia se despido daquela grandeza que lhe deu em Cachoeira. Voltava cabo, do Rio, viu-o na Basílica ao lado da Dolores. Foi porque o pegou pensativo na praia, encolhido como um uruá? E achava, em Cachoeira, que o tio bastasse assobiar no mato e logo os bichos corriam a lamber a sua mão.
— Frades malvados.
O Tio Sebastião condenava. Índios e negros, todos os pobres, na mão dos frades, e tomem! e tomem! o sangue escorrendo na vazante, o sangue nos paus fincados na lama, 252 tingiu para sempre o pedral de Santana e Araquiçaua. hoje se ouve no rio e na pedra, escravo gemer.
— Este rio escutou. Guarda no fundo muito sangue e lágrima.
— Os índios gemiam?
— Meu sobrinho, índio é nosso próximo. Mais, porque é inocente. É o Adão e a Eva e a serpente. no bom conviver. A cascavel tem maçã pra dar?
Frades de batina imunda traziam a maçã, as cordas ferozes volteavam no lombo africano, no lombo índio, as selvajarias. Deus entrava nos inocentes a peso de chicote. Mas era o Diabo que entrava.
— De que valeu? Que ficou? O engenho cadê? As ossadas dos frades sabrecam no inferno.
Tio Sebastião queria sabrecar a Dolores também? A moça branca fazia parte da pedra, dos frades, na escuridão? O aningal a modo que fosforescia?
Tanto que se falava de. certas noites, ouvirem o mover do engenho, a moição da cana, o cantar dos negros. Então a ilha era dos negros que fugiam pela maré e iam de velas para a África?
Alfredo até queria, que acontecesse um assombro: a ilha dando a sua volta no rio, os negros amarrando os frades na pedra, moendo os cruéis na moenda.
— Uma passagem, cunhado! Eh, cunhado!
— Cunhado é a vossa mãe, toma bença do teu padrasto.
A voz atravessava o rio. Tio Sebastião nem ria, não era o mesmo, falava um pouco pesado, o tio fraquejava? A voz do tio Antônio perdia o tom de comando, para ganhar o tom despreocupado e distraído como o seu barco.
Um farol apontou. Alfredo olhou as estrelas. Tremiam com o tremor da baía jogando?
Veio um mano no bote que levou tios e sobrinho para a praia. Tiveram que tirar sapato, passaram um pedaço d’água, limparam as pernas no capim que Alfredo reconheceu o mesmo de Araquiçaua, um capim d’água, às vezes áspero, outras cetinoso, é de onde o camarão tira a barba, 253 ou pasto de peixe-boi? Na enchente, o capim coleava. sumindo-se. Vazou, boiavam limosos, com a grude dos bichos, ou lisos por terem os botos nadado em cima. Traziam o verdume das rãs arrepiadas, na correnteza ver aranhas verdes.
Sabendo que o sobrinho enxergava mal, Sebastião o guiava pelas estivas de miritizeiro, passagens de pedra, renteando o paredão, açaizeiros, coqueiros, pedra aqui e ali de apoio ou pontudas, um molhado pedregume, escorregoso. Na mão do tio que nem se andasse cego, Alfredo deixara-se levar pelo caminho invisível, visitando os santos acesos pelos anjos, ou pelos olhos do corujão? Mas caminhar era sempre arriscado, mesmo na mão do tio. Continuava muito escuro, saltou um sapo que pareceu descomunal, nem um vaga-lume? Os tios acendiam fósforos, preocupados com o sobrinho. Este, preocupado por dar trabalho.
— Me largue a mão, tio. Eu sei.
— Guarda a sabedoria pra quando tiver óculos, meu ceguinho.
Melhor ter ficado no barco. Ceguinho é o avô.
— Não ande solto, menino, que dos buracos pode pular cascavel. Costuma ter muito. Me de a sua mão. Você me guia e eu lhe guio, os dois se ajudam.
Era o tio Antônio.
— Esses cascavéis são os frades.
Disse o tio Sebastião, como se cascavel também morasse no seu peito.
Alfredo se viu no abraço de um senhor baixo, cabeça grande, queixudo, um rir de muito agrado e cuidadoso recebimento.
— Mas muito do bem aparecido! É o seu sobrinho, mestre Antônio Piloto? Boa a travessia? Antônio Piloto em nossa casa? São Sebastião faz milagres. As ordens. cavalheiros, Casa ás. ordens.
Era o dono do barracão, o Diretor da Irmandade de São Sebastião de Santana.
254 — Mas que novas me trás daquela mortandade de tanta criancinha, mas que desconformidade, nem os doutores acertam o diagnóstico, mas possível?
E puxando o tio Sebastião para um lado:
— Com todo o gosto, seu Sebastião, agasalhei a sua recomendada, a distinta senhora. Único a deplorar foi ter de mandar embora um meu sobrinho, ferroado de arraia, ainda bem inflamado. É um veneno ficar ao pé de pessoa assim grávida. No mais, em circunstância desta, o próximo se ajuda. Aqui é, sim, de toda a conveniência. Casa do parente dela é par de estirão. Será levada cedinho depois da rezação da folia, amanhã. Mas o meu parecer... e por dias ou por horas? Suspeito que tenha de tirar uma penosa do poleiro e queimar alfazema. Mas graças a São Sebastião, o que não falta nesta choupana é com que fazer uma dieta, um caldo. Por isto, não.
Isso que foi dizendo, a filha veio: se podia começar.
— Ainda estou aqui na cumprimentação dos convidados, mea filha. São Sebastião não requer pressa. Quem tem pressa, benza-me o Altíssimo, é o Cão com o seu enxofre. Tirar uma ladainha requer um bom vagar. Tudo bem acaba quando feito vagamente. Casa às ordens, cavalheiros. Rogo. a boa harmonia para o inteiro regozijo. Acenderam as candeias no cocal? Quero tudo no bem clareado, não digo por uma pavulage. Escuro nem na morte, que esta o santo alumia. O mais é rir das nossas desconsolações.
Falou da veneração da imagem: ladainha e dança três dias, o povo sabia com muita antecedência e voz corrente. O santo saia de esmolas pelo rio, com os donativos mensalidades jóias da Irmandade, o Diretor custeava a festividade, religiosa e profana. Os devotos chegavam tanto dali do juntinho como das longiquidades. Lugar no barracão para rezar e dançar, não havia de faltar, cabia, fosse o maior peso dos convidados, a sociedade do rio, conhecidos e não conhecidos da navegação, desembarcasse, des-que trouxessem respeitosidade e bom conviver.
— Acendam os fachos. Clareamento aqui é com o sair da lua. As ordens, São Sebastião vos recebe. Que ninguém tropece na soleira. Aqui sendo tudo da chã 255 po|breza não é de cerimoniosidade. A rigoridade aqui é o saber respeitar. Tudo o mais é sem enfeite.
Alfredo admirava no sisudo e divertido Diretor o paletó lustroso, o gomado da camisa listrada, o alfinete tal qual um vaga-lume na gravata, no cabelo a brilhantina e o distintivo da Irmandade na lapela.
— Um governador — segredou-lhe o tio Sebastião. Logo apagou do rosto o ar de troça, a escutar do irmão que conhecia muito o Diretor, senhor de suas artes, suas trapaças, seu cerimonial no falar e no fazer, e em meio de tudo isso era de muita festa, tão devoto da boa saia e do bom beber quanto o era de São Sebastião. Não dizia barco mas balco, dando garbo ao nome.
— Quer ver... um momento, seu Almerindo. O amigo já foi caldeireiro...
— De felro, lhe confirmo o dito. Caldeireiro de felro. Ainda cardero um pouco. Tostei a testa no fogo. nas cardeações. E sou um pouco de felro. Quer algum felro no seu balco?
Mas vigilante na ponta da viga sobre a porta de entrada, a crista agressiva, o bico brabo, o papagaio dava o alarma:
— Não pode entrar! Não pode entrar! Sai! Sai! Sai!
Alguns convidados hesitavam, rindo. Tio Sebastião piscou para o sobrinho. Seu Almerindo abria a casa, o papagaio fechava.
— A casa é vossa! Bem-vindo todos! era o seu Almerindo recebendo.
— Não pode entrar! Não pode entrar! Sai! Sai! Sai! era o papagáio trancando a porta.
— Ali é o avesso do dono — murmurou o tio. Alfredo ria, divertido, os dois Almerindos, um daquela noite e o outro de todo dia; até que a filha mais velha apanhou o papagaio e o levou, passando-lhe um carão. Mas da prisão. o alarma vinha:
— Não pode entrar! Não pode entrar! Sai! Sai! Sai!
256 E veio o seu Almerindo:
— Seu Antônio, aceite o meu requerimento, quer que o nosso santo faça, amanhã, uma visita ao seu balco? Dispensa? Basta o nome de santo tão favorecedor que o balco tem? E o piloto, os caruanas protegem, guardado com orações, guardado sempre seja. Ou me diz que não?
Deu a risada, já se cobrindo de festeira surpresa ao receber a família de seu compadre de rio Tomalá, com bem bagagem e família. Mas o compadre se abalando de tão longe! A fama da festa em Santana ia-que-ia saltando os estirões.
— Basta que lhe conte, acrescentou com súbita serie(jade, que o meu amigo Antônio trouxe passageiro diretamente à festa. Aqui o mocinho que estuda em colégio em Belém. O seu Sebastião soube do festejo ainda no Rio de Janeiro e seu pensamento foi cumprir sua promessa pelo bom sucesso que teve no manejo das armas e no cumprir a disciplina na Capital Federal, graças ao São Sebastião.
— Não se espante, meu sobrinho, oiça e guarde, segredou o tio piloto. alisando o rosto, brejeiro.
— Este nosso São Sebastião, aqui da brenha, destas pedras, tem os seus anzóis e linha para pescar as boas almas. Não é para a Irmandade se gabar, mas festividade corno esta, modéstia de lado, não é de uso e costume por essas paragens e mares. Corra muita lonjura e reme muita maré para ver uma. Me contesta o sr. seu Antônio Piloto, o sr. que é embarcadiço da costa a fora?
— Das que eu vi, nem uma iguala, isto é uma verdade.
— E o seu testemunho, seu Sebastião, o sr. que eu sei que tem calcanhar fino de andador de mato, subiu o Amazonas conheceu, afinou os olhos nos centros mais adiantados.
— Estou inteiro ao seu lado, seu Almerindo, pode escrever. Já o meu irmão me havia avisado em viagem. Este meu sobrinho aqui está de boca aberta.
— De coração agradeço os louvores, que não é para insignificante pessoa mas ao Mártir ali no seu modesto 257 mas honrado oratório, ao General cujo martírio foi para a maior glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. O nome do menino? Menino? Com esse bom par de perna? Já é bem rapaz, daqui a um instante um cavalheiro, pouco é o tempo que conta para chegar a homem. Alfredo, o nome de batismo? Aqui seja bem-vindo, sou o Almerindo Gonçalves de Sousa e Lima, criado ás ordens, antigo caldeireiro de ferro, criado na ferrugem, aprendiz em artes de pescaria em arpoagem e linha, cortei borracha, no regatão vendi por esses rios muita fazenda, muito perfume, muita fantasia, corri o Guamá, fumei nos tabocais do Moju, farinhei no Acará, dou conta de uma ladainha, marco regular uma quadrilha, cavoco na tabuada, um cristão de tão pouco préstimo, crente de que ganho indulgencia. O sr. meu filho, é filho do Major Alberto? Fina pessoa o seu pai. Muito me louvo conhecer seu pai. Aqui os fogos, o escrito do programa da festividade com imagem gravada, tudo em tipo de jornal, foi donativo do Major, uma especial deferência. Que em paga São Sebastião tenha sempre o seu pai na Secretaria Municipal, que é o posto dele por direito e boa escolha.
Alfredo, sem uma palavra, num temor de desapontar os tios, estes interessados em ouvir e ver o desembaraço do sobrinho, por ser de estudo, estudava em Belém.
A umas convidadas que chegavam, carregando baútas, o Diretor instruiu:
— Reservei a puxada do barracão para as senhoras e senhoritas mudarem a roupa, estarem a cômodo no pentear, no vestir, fazerem a formosura. Seu Sebastião, lhe chamam lá dentro.
O tio foi acudir a misteriosa. Voltou um tanto preocupado, segredou no ouvido do irmão. Alfredo, de banda, reparava nos enfeites bandeirinhas e correntes de papel cruzando o salão; à esquerda, o oratório todo em flor e palma, recebia da mão da moça gorda os últimos retoques. Em manjericão, crisântemo e bogari até que o santo tirava um alívio no seu suplício. O tio piloto se aproximou do sobrinho para explicar que o Diretor era muito habilidoso tanto no agradar, como nas aritméticas sem que tivesse 258 aprendido um número em escola ou da boca dum professor, Armava e desarmava cálculos com a perícia de um jogador de cartas ou de uma rendeira de bilros. E novos convidados atravancavam a entrada do barracão, o Diretor abria ala, sempre em gerais palavras, a todos dizia: A nossa Irmandade, aqui a nossa Irmandade, como se dissesse: a nossa fidalguia, os nossos privilégios, ou apresentasse, da parte de São Sebastião, procuração em cartório para lhe fazer aqui na terra, a veneração e a festa. Alfredo convencia-se: sem precisar da capela, dos santos ricos, da casa grande e do traquejo dos fazendeiros, estava um homem com o dom da diplomacia, podia rasgar sedas nas melhores casas de Nazaré, inventando as suas palavras, trocando o r pelo 1, carregando no ai. Devia ter uma ortografia para seu especial uso e cruel com quem com ele fosse porfiar na tabuada. O barracão não era de pedra, era de palha, à feição de maloca de índio, o chão batido, talvez nos quartos algum assoalhado, bem tecido o forramento de palmeira ubuçu que cheirava a nova. Nos esteios, — ainda apagados dois orgulhosos carburetos — fumegavam as lamparinas. No salão vinte pares, cabia? fora o abancado frente com frente? E no andamento daquela gente pelos fundos, Alfredo sentia o silêncio e o mistério da companheira de viagem. Brusca lhe veio a visão de Belém debaixo das moscas e seus inocentes morrendo. Desejou que o pai ali estivesse a armar um fogo de artifício para aquele São Sebastião tão pobrinho. Que sabe o Santo de que acontece na cidade? Com certeza na capela dos fazendeiros devia de ter um São Sebastião podre de ouro, soberbo no seu suplício, sufocado no meio dos companheiros a transpirar luz e santidade para a única devoção dos morcegos, corujas e frades corridos a chicote da porta de São Pedro. Ou alguma cascavel a enrolar-se nas imagens. Ou os Santos, afastando as palhas na cumeeira do barracão, vinham espiar?
Debaixo das touceiras de açaí e dos coqueiros meninos, espalhavam-se os convidados, no terreiro um espelho de bem varrido na luz dos carburetos comparado até uma iluminação pública.
259 Tio Sebastião para pensar mal de Dolores voltou a falar dos frades, o assunto caiu na cabanagem. Entrou o seu Almerindo na conversa, no entremeio dava ordens, despachava, punha o visto na chegada e agasalhagem das senhoras e crianças. Falou do Visconde do Arari correndo dos cabanos de Cachoeira; o Visconde escondeu-se em Santana, os cabanos descem o Arari, tinham tomado conta da vila, querem pegar o Visconde em Santana. O Visconde se atirou pela baía, no rumo da Tatuoca onde a brancarada do Pará se entocou, no olhai pra nós, santo Deus da misericórdia. A cabanagem mandando no rio. Brancos se sumindo no mato borrados de medo, os caboclos atrás do Visconde, varrendo das terras do Arari as barbas do Visconde. Ah bom peito, ah boa brabeza aquela!
— Raça de gente. Foi uma guerra de muito respeito, muita fina nos cálculos de combate. Nosso cabanos tinham faros militares. Guerrear sabiam. Depois chega aquele general da corte com esquadra e bote pólvora. Os cabanos já naquele tempo queriam também tirar os escravos do cadeado? Acho que sim. Meu avó foi cabano. Ajudou a botar o Visconde daqui. Ah! que botou, botou. O Coronel Comandante superior da Guarda Nacional da Câmara de Cachoeira Comendador da Ordem de Cristo e Barco do Arari e logo Visconde com Honras de Grandeza jogou no veado para não acabar no moquém preparado pelos meus avos cabanos. Mas o caldeireiro do Cão lhe preparou lá nas profundas um bom espeto na brasa.
— A Guarda Nacional contra o povo, foi? indagou o tio Antônio. Alfredo franziu a testa: o pai era Major da Guarda Nacional. E o diretor da Irmandade continuou: um seu avó num engenho, amarrou o senhor branco, disse: Morre-te, português. Ah mas esse mesmo avo penou debaixo das atrocidades de vingança dos brancos. E de novo Santana na mão do Visconde. Mas da cabanagem gerou essa caboclada papa-chibé, papa-jenipapo, papa-piranha, estes, aqueles, embarcadiços de boa patente, bons rezadores, arpoadores de pirarucu, reviradores de tartaruga, bons soldados, bons lenheiros, boas pessoas que podiam um dia só eles melhorar o município.
260 — Por obra e graça do Nosso Senhor e no arrimo de São Sebastião aqui estamos. Eu soube das artes da cavalaria em Belém. Mas o fio da espada não corta aquela raiz. Tenho em muito cuidado a recomendação a respeito da senhora que veio a mim confiada. Sabem que os Bezerras não querem mais que eu fique aqui na terra deles? Estão com medo que eu cubra de roçado os fundos da propriedade. Questionar não posso, a lei me diz. Por enquanto faço esta minha devoção, com os meus irmãos da Irmandade, nesta noite. Amanhã me arrisco a fincar o meu esteio noutro chão. Assim queira Deus e o tempo. No presente, esta é a boa ocasião de espantar as mágoas, se pegar com o São Sebastião, brincar com os nossos devotos num par de horas de dança, nesta choupana modesta bem verdade mas abençoada por Deus, assim espero, sempre as coisas foram respeitadas para ter um valimento, cuido de me rodear das boas palavras e dos cavalheiros de bom proceder. Bem, licença, vou ver como armar as tantas redes das crianças, acudir os que trazem sua promessa e pedem uma graça, acomodar as senhoras de mais idade nos primeiros lugares da ladainha, ver os demais acomodamentos. Escolhi deste estirão. do outro pra lá da boca do Laranjeira, os músicos de maior competência em sopro e corda e no saber as novidades de música da moda, sem renegar a antiga. Sou um quadrilheiro de berço.
Não deu tempo para uma pergunta do tio Sebastião, (se tinha violão), porque o Diretor logo voltou:
— Sou um curiboca. Daqueles brancos e desses que nos fecham a capela, não invejo a linhagem. A branquidade está na sabedoria da pessoa, o seu bom saber, meu amigo, seu Antônio Piloto, no seu pilotar de muita falância. Aqui o seu Sebastião no portar-se como bom soldado na Capital da República e de lá, que eu sei, voltou com a sua promoção de cabo do Exército Nacional, honrando o seu patrono e torrão. Isto é a branquidade da verdadeira, a vera educação, o bom capricho, sempre tenho muitíssimo respeito pelos que afinam a cabeça, sabem as letras, os números. desfolham o livro com um natural desembaraço, aprecio. Relativo ao Visconde, que o Tal o tenha sempre nas suas panelas e do Tal nos livre o Anjo Gabriel e a 261 corte celeste. Mas licença. Estão chegando na beirada muitas famílias. Na praia é o causo de ser preciso carregar no ombro e no braço as pessoas de mais idade, as velhas que por um reumatismo, uma friagem, as conveniências da saúde, não podem pisar n’água. Ora, as moças, vendo, se fazem de mimadas e querem vir no colo dos homens, também, apetitando o nosso peito, pode produzir uma eletricidade, eu tenho por experiência, aqui entre nós que nenhum mal exemplo posso dar, estou entre pessoas de inteiro ouvir e convir e não soprar adiante. Mesmo a patroa que está lá nas canseiras, pilotando as providências de cozinha, agasalhagem e fiscalização, ela é, perdoe o gabo do marido, a santa pessoa que só eu sei, mas na raiva vira, valei-me, mãe de Cristo, a maior onça. Eu já tenho ficado com a cara deste tamanho. Que vai que faço as artimanhas. Me meto no oco, esperando passar a pororoca. Nem que fosse o meu irmão que apanhou 35 chibatadas na Marinha, tempo em que havia chibata, nisto ponho nas alturas os marinheiros de João Cândido. Seu Antônio. quando quiser um arder de goela, esquentar o peito, cá entre nós. sem dar na vista, faça de conta que é um brinde, eu lhe passo. Quer emborcar? Deixe a cerimonia a bordo.
O tio Antônio recusou, preocupado com o sobrinho, se queria jantar já, dormir, iriam ver rede.
— Quer voltar pro barco? A tripulação toda está em terra. Quer?
Alfredo pensou: no «Santo Afonso» estaria em sossego, a ouvir rumores e acontecimentos do rio. Lá fora o tempo amarrava. A maré podia arrastar a corrente do ferro e por o barco em posição boa para ver a ilha e a boca da baía. Não, sozinho no barco, não, podia roncar muito alto, chamar a atenção da cobra, mãe do rio, que entraria no toldo e o levaria. No barco, sozinho, o sono arma ciladas, a mãe do rio tem oiça fina. Ficava no terreiro, jantar já-já, ainda não.
— Os srs. vão relevar a falta dum padre. Mas como os srs. sabem, os padres custam os olhos da cara. Quando as brancas estão aí, chega padre, abre a capela, até o Arcebispo, par de vezes. Então a caboclada aproveita para a enfiada de batizados, a metade .a brancarada pagando.
262 No mais a gente vaizinho garantindo a fé por nós mesmos, conforme a competência. Que acha do pequenino altar, seu Sebastião, seu Antônio Piloto?
Lá pelos fundos, ao pé do jirau onde Alfredo via alguidares. um pote gordo, cheiro de porco — em que quarto, onde, a misteriosa? — os tios tinham arrumado um jantar. com uma farinha d’água torrada, de tal especial qualidade, comeu. Na Gentil e na Estrada de Nazaré, era farinha seca, por ser casa de cearense e até que não estranhou; mas no que podia, passava pela Rui Barbosa, nas primas, para provar aquela farinha que a Magá comprava, amarelinha, um tanto azeda por isso até gostosa; era um certo mistério as relações da Magá com o mercado, farinheiros e caranguejeiros do Ver-o-Peso. Agora, em meio da costeleta, esta bem branca, quem sabe feita na hora, quentinha, ao cheiro do toucinho nas brasas. Entre as estacas assavam toucinho. E entre os toucinhos viu-se, queria um pedaço. fugiu ao cheiro de cachaça e mel de abelha.
Aproximou-se da reza, lambuzado, um pouco de farinha no bolso, os rezadores chegavam ao
— Reservei a puxada do barracão para as senhoras e senhoritas mudarem a roupa, estarem a cômodo no pentear, no vestir, fazerem a formosura. Seu Sebastião, lhe chamam lá dentro.
O tio foi acudir a misteriosa. Voltou um tanto preocupado, segredou no ouvido do irmão. Alfredo, de banda, reparava nos enfeites bandeirinhas e correntes de papel cruzando o salão; à esquerda, o oratório todo em flor e palma, recebia da mão da moça gorda os últimos retoques. Em manjericão, crisântemo e bogari até que o santo tirava um alívio no seu suplício. O tio piloto se aproximou do sobrinho para explicar que o Diretor era muito habilidoso tanto no agradar, como nas aritméticas sem que tivesse 258 aprendido um número em escola ou da boca dum professor, Armava e desarmava cálculos com a perícia de um jogador de cartas ou de uma rendeira de bilros. E novos convidados atravancavam a entrada do barracão, o Diretor abria ala, sempre em gerais palavras, a todos dizia: A nossa Irmandade, aqui a nossa Irmandade, como se dissesse: a nossa fidalguia, os nossos privilégios, ou apresentasse, da parte de São Sebastião, procuração em cartório para lhe fazer aqui na terra, a veneração e a festa. Alfredo convencia-se: sem precisar da capela, dos santos ricos, da casa grande e do traquejo dos fazendeiros, estava um homem com o dom da diplomacia, podia rasgar sedas nas melhores casas de Nazaré, inventando as suas palavras, trocando o r pelo 1, carregando no ai. Devia ter uma ortografia para seu especial uso e cruel com quem com ele fosse porfiar na tabuada. O barracão não era de pedra, era de palha, à feição de maloca de índio, o chão batido, talvez nos quartos algum assoalhado, bem tecido o forramento de palmeira ubuçu que cheirava a nova. Nos esteios, — ainda apagados dois orgulhosos carburetos — fumegavam as lamparinas. No salão vinte pares, cabia? fora o abancado frente com frente? E no andamento daquela gente pelos fundos, Alfredo sentia o silêncio e o mistério da companheira de viagem. Brusca lhe veio a visão de Belém debaixo das moscas e seus inocentes morrendo. Desejou que o pai ali estivesse a armar um fogo de artifício para aquele São Sebastião tão pobrinho. Que sabe o Santo de que acontece na cidade? Com certeza na capela dos fazendeiros devia de ter um São Sebastião podre de ouro, soberbo no seu suplício, sufocado no meio dos companheiros a transpirar luz e santidade para a única devoção dos morcegos, corujas e frades corridos a chicote da porta de São Pedro. Ou alguma cascavel a enrolar-se nas imagens. Ou os Santos, afastando as palhas na cumeeira do barracão, vinham espiar?
Debaixo das touceiras de açaí e dos coqueiros meninos, espalhavam-se os convidados, no terreiro um espelho de bem varrido na luz dos carburetos comparado até uma iluminação pública.
259 Tio Sebastião para pensar mal de Dolores voltou a falar dos frades, o assunto caiu na cabanagem. Entrou o seu Almerindo na conversa, no entremeio dava ordens, despachava, punha o visto na chegada e agasalhagem das senhoras e crianças. Falou do Visconde do Arari correndo dos cabanos de Cachoeira; o Visconde escondeu-se em Santana, os cabanos descem o Arari, tinham tomado conta da vila, querem pegar o Visconde em Santana. O Visconde se atirou pela baía, no rumo da Tatuoca onde a brancarada do Pará se entocou, no olhai pra nós, santo Deus da misericórdia. A cabanagem mandando no rio. Brancos se sumindo no mato borrados de medo, os caboclos atrás do Visconde, varrendo das terras do Arari as barbas do Visconde. Ah bom peito, ah boa brabeza aquela!
— Raça de gente. Foi uma guerra de muito respeito, muita fina nos cálculos de combate. Nosso cabanos tinham faros militares. Guerrear sabiam. Depois chega aquele general da corte com esquadra e bote pólvora. Os cabanos já naquele tempo queriam também tirar os escravos do cadeado? Acho que sim. Meu avó foi cabano. Ajudou a botar o Visconde daqui. Ah! que botou, botou. O Coronel Comandante superior da Guarda Nacional da Câmara de Cachoeira Comendador da Ordem de Cristo e Barco do Arari e logo Visconde com Honras de Grandeza jogou no veado para não acabar no moquém preparado pelos meus avos cabanos. Mas o caldeireiro do Cão lhe preparou lá nas profundas um bom espeto na brasa.
— A Guarda Nacional contra o povo, foi? indagou o tio Antônio. Alfredo franziu a testa: o pai era Major da Guarda Nacional. E o diretor da Irmandade continuou: um seu avó num engenho, amarrou o senhor branco, disse: Morre-te, português. Ah mas esse mesmo avo penou debaixo das atrocidades de vingança dos brancos. E de novo Santana na mão do Visconde. Mas da cabanagem gerou essa caboclada papa-chibé, papa-jenipapo, papa-piranha, estes, aqueles, embarcadiços de boa patente, bons rezadores, arpoadores de pirarucu, reviradores de tartaruga, bons soldados, bons lenheiros, boas pessoas que podiam um dia só eles melhorar o município.
260 — Por obra e graça do Nosso Senhor e no arrimo de São Sebastião aqui estamos. Eu soube das artes da cavalaria em Belém. Mas o fio da espada não corta aquela raiz. Tenho em muito cuidado a recomendação a respeito da senhora que veio a mim confiada. Sabem que os Bezerras não querem mais que eu fique aqui na terra deles? Estão com medo que eu cubra de roçado os fundos da propriedade. Questionar não posso, a lei me diz. Por enquanto faço esta minha devoção, com os meus irmãos da Irmandade, nesta noite. Amanhã me arrisco a fincar o meu esteio noutro chão. Assim queira Deus e o tempo. No presente, esta é a boa ocasião de espantar as mágoas, se pegar com o São Sebastião, brincar com os nossos devotos num par de horas de dança, nesta choupana modesta bem verdade mas abençoada por Deus, assim espero, sempre as coisas foram respeitadas para ter um valimento, cuido de me rodear das boas palavras e dos cavalheiros de bom proceder. Bem, licença, vou ver como armar as tantas redes das crianças, acudir os que trazem sua promessa e pedem uma graça, acomodar as senhoras de mais idade nos primeiros lugares da ladainha, ver os demais acomodamentos. Escolhi deste estirão. do outro pra lá da boca do Laranjeira, os músicos de maior competência em sopro e corda e no saber as novidades de música da moda, sem renegar a antiga. Sou um quadrilheiro de berço.
Não deu tempo para uma pergunta do tio Sebastião, (se tinha violão), porque o Diretor logo voltou:
— Sou um curiboca. Daqueles brancos e desses que nos fecham a capela, não invejo a linhagem. A branquidade está na sabedoria da pessoa, o seu bom saber, meu amigo, seu Antônio Piloto, no seu pilotar de muita falância. Aqui o seu Sebastião no portar-se como bom soldado na Capital da República e de lá, que eu sei, voltou com a sua promoção de cabo do Exército Nacional, honrando o seu patrono e torrão. Isto é a branquidade da verdadeira, a vera educação, o bom capricho, sempre tenho muitíssimo respeito pelos que afinam a cabeça, sabem as letras, os números. desfolham o livro com um natural desembaraço, aprecio. Relativo ao Visconde, que o Tal o tenha sempre nas suas panelas e do Tal nos livre o Anjo Gabriel e a 261 corte celeste. Mas licença. Estão chegando na beirada muitas famílias. Na praia é o causo de ser preciso carregar no ombro e no braço as pessoas de mais idade, as velhas que por um reumatismo, uma friagem, as conveniências da saúde, não podem pisar n’água. Ora, as moças, vendo, se fazem de mimadas e querem vir no colo dos homens, também, apetitando o nosso peito, pode produzir uma eletricidade, eu tenho por experiência, aqui entre nós que nenhum mal exemplo posso dar, estou entre pessoas de inteiro ouvir e convir e não soprar adiante. Mesmo a patroa que está lá nas canseiras, pilotando as providências de cozinha, agasalhagem e fiscalização, ela é, perdoe o gabo do marido, a santa pessoa que só eu sei, mas na raiva vira, valei-me, mãe de Cristo, a maior onça. Eu já tenho ficado com a cara deste tamanho. Que vai que faço as artimanhas. Me meto no oco, esperando passar a pororoca. Nem que fosse o meu irmão que apanhou 35 chibatadas na Marinha, tempo em que havia chibata, nisto ponho nas alturas os marinheiros de João Cândido. Seu Antônio. quando quiser um arder de goela, esquentar o peito, cá entre nós. sem dar na vista, faça de conta que é um brinde, eu lhe passo. Quer emborcar? Deixe a cerimonia a bordo.
O tio Antônio recusou, preocupado com o sobrinho, se queria jantar já, dormir, iriam ver rede.
— Quer voltar pro barco? A tripulação toda está em terra. Quer?
Alfredo pensou: no «Santo Afonso» estaria em sossego, a ouvir rumores e acontecimentos do rio. Lá fora o tempo amarrava. A maré podia arrastar a corrente do ferro e por o barco em posição boa para ver a ilha e a boca da baía. Não, sozinho no barco, não, podia roncar muito alto, chamar a atenção da cobra, mãe do rio, que entraria no toldo e o levaria. No barco, sozinho, o sono arma ciladas, a mãe do rio tem oiça fina. Ficava no terreiro, jantar já-já, ainda não.
— Os srs. vão relevar a falta dum padre. Mas como os srs. sabem, os padres custam os olhos da cara. Quando as brancas estão aí, chega padre, abre a capela, até o Arcebispo, par de vezes. Então a caboclada aproveita para a enfiada de batizados, a metade .a brancarada pagando.
262 No mais a gente vaizinho garantindo a fé por nós mesmos, conforme a competência. Que acha do pequenino altar, seu Sebastião, seu Antônio Piloto?
Lá pelos fundos, ao pé do jirau onde Alfredo via alguidares. um pote gordo, cheiro de porco — em que quarto, onde, a misteriosa? — os tios tinham arrumado um jantar. com uma farinha d’água torrada, de tal especial qualidade, comeu. Na Gentil e na Estrada de Nazaré, era farinha seca, por ser casa de cearense e até que não estranhou; mas no que podia, passava pela Rui Barbosa, nas primas, para provar aquela farinha que a Magá comprava, amarelinha, um tanto azeda por isso até gostosa; era um certo mistério as relações da Magá com o mercado, farinheiros e caranguejeiros do Ver-o-Peso. Agora, em meio da costeleta, esta bem branca, quem sabe feita na hora, quentinha, ao cheiro do toucinho nas brasas. Entre as estacas assavam toucinho. E entre os toucinhos viu-se, queria um pedaço. fugiu ao cheiro de cachaça e mel de abelha.
Aproximou-se da reza, lambuzado, um pouco de farinha no bolso, os rezadores chegavam ao
reginasinelabesoriginala
pronunciado alto, com muito l, pelo seu Almerindo, contrito, a boca larga de ladainheiro. Alfredo procurou a praia, a ver se podia lavar as mãos, era longe, e escuro; no vão de uma água entre duas pedras, hesitou. Se uma cobra? Também dava arraia. A noite clareava. Mas mal se via o barco, agora solitário. Barco assim, contava Danilo em Cachoeira, sem ninguém, fundeado, é sempre visitado pelos bichos do fundo, sob os olhos da cobra a alumiar onde tiver gente dormindo. Alfredo voltou, a ladainha terminava, pediu ao tio Sebastião um pouco d’água, lhe foi dado num croatá que era mesmo uma bacia de se lavar a mão bem demorado. Tio Sebastião tirou do bolso um sabonete do Rio de Janeiro deu ao sobrinho que fez render a lavagem, o croatá, na sua espuma, apanhava a luz coada pelas frestas da parede de ubuçu.
— Seu Sebastião, aqui tem o violão, faça o bom obséquio de acompanhar abrilhantando a nossa modesta folia. 263 A honra é toda nossa. São Sebastião lhe agradece. Afine ao seu critério.
— Mas, seu Almerindo, acompanho muito mal. Arranhar corda é que eu sei.
— Falando de barriga cheia, O sr. já nasceu feito, conheço os seus cabedais. Não escasseie o que possui. Eu é que nada sei de metal e corda, ponteio só de voz.
E vendo o Alfredo no croatá, fez um espanto, um pesar.
— Oh!, meu filho, por que não me pediu vasilha mais apropriada? Graças a Deus ,embora pobres, temos. É um espoliozinho, mas procurando pelos armários se acha. Uma boa bacia de louça, é verdade que não arriscamos ela a todo instante. De louça, de regular louça, é. Foi tresvario da minha cabeça aí por uns doze ou dez anos, quando fui em Belém e vi a bacia na vitrina do armazém de ferragens. Não sei o que me deu, calculei os bagarotes, dava, não dava, maginei as faces de minha patroa me recebendo o presente. Só sei que me vi todo cuidadoso não me quebre a jóia já debaixo do toldo da «Flor do Arari», me lembro bem, a Flor», o encarregado era o finado Azarias, coitado. levou no dedo uma estrepada tola de espinha de tambaqui, arruinou, subiu pra cabeça. Uma belíssima criatura. Na bacia vim lavando os meus gitinhos no primeiro banho. Boa louça, marca da Alemanha. (Maria Emília, a bacia aqui, mea filha). A fabricação alemã dá muita fiança.
— Mas não é mais preciso.
— Ora muito que bem, até que disse umas palavras. Quem pouco fala, muito sabe. Mas estas suas palavras não merecem aplauso. Vai limpar as mãozinhas para fazer um bom obséquio ao seu amigo, na nossa bacia de louça, está me escutando? Para que são os obséquios? Quero um dia dizer que o meu amigo honrou a bacia de louça lavando as mãos, depois de saborear o bom toucinho da festa de São Sebastião de Santana.
— Não custava falar, acrescentou a moça que apertava a cintura com um cinto de elástico cheio de miçangas. Alfredo viu a louça branca, a toalha, um sabonete. Era então uma pessoa do Governo?
264 — Não, não precisa.
— Seus tios me disseram que o sr. é um mocinho de colégio, vem de férias. E ao que me parece, tem cabeça. Conheço o sr. Major Alberto, um homem de muito entender e escrever. Quem não aprova neste rio o sr. Major? E o fogo de artifício que armou em Santana na inauguração da draga? E aqui entre nós vos digo...
Baixou a voz para dizer que muito admirou a diplomacia do Major ao evitar o escândalo em Santana, que seria, se a senhora do dr. Bezerra se atracasse com a caboclinha por nome Botão que o nosso Intendente perdeu. E olhe que ela não dava na Botão, não. A cabocla é baixinha, envergonhada, mas isto de uma branca chegar e meter o braço na verônica da infeliz, alto lá, que, ao que me parece, a Botão metia as suas unhas na madame. Enfim, a diplomacia, a boa política, as maneiras do Major Alberto, evitou. O Major é a alma deste município tão panema com os seus Intendentes. O Major tem o conhecimento dos papéis, sabe mexer nos documentos que nem um doutor, até em foguetes, pois em foguetes e fogos bateu os de Belém, foi exato. E o Major nos deu o donativo do impresso e os foguetes. Não, não vai assear mais a mão no croatá. Aqui tem a bacia de louça. Esta não é só de branco lavar mão. Já serviu de pia para batismo. Merecia água do Jordão. Estude, menino, por nós. Eu não tive posses, o que sei é um pouco de algarismo. Não podia ter sido um bom agrimensor? Também em contabilidade. Bonita a armação do dever e haver, o sr. não acha, seu Sebastião?
O Tio Sabá apanhou o violão, acompanhou a folia, depois da ladainha, como se estivesse pensando em Dolores, seu acompanhamento não era em louvor do santo, não. O rosto mostrava uma aspereza. Erecto, um mastro de barco, e seus dentes, uma e outra vez, brilharam no clarão das velas, Atrás, perdido entre os convidados, o tio Antônio, não mais piloto do «Santo Afonso. Alfredo pôs-se a admirar a quantidade das moças: de calça comprida, ali faria quanta fita, tirar esta e aquela para as partes que a música ia tocando. Ajoelharam-se para o eleison e ele, de pé. dominou aquelas cabeleiras, as flores na cabeça, muitas com 265 azeite demais no cabelo, quantas de gaforinha solta, principalmente esta, aqui perto, de cachos e mais cachos. Ajoelhada, os cachos pelo ombro e colo, um pecado em pessoas não consoante com a ladainha.
Retirou-se para o terreiro, pode respirar, e se aproximou da beirada; a reza entoava doce e ao mesmo tempo suplicante, aumentando aqui fora o silêncio nem os bichos abriam boca. Voltou para apreciar o fim da folia, sempre o gogó do Vítor Uéua cantando, aquele mesmo de Cachoeira, altão, um pau seco no meio dos foliões, no seu ofício de abrir folia, puxar a voz mais lá em cima, a mão no canto da boca, o afinado lamento que saía condoído do seu gogó; o violão do tio respondia pouco e lento, e nos olhos do tio, não o santo, mas aquela imagem da São Mateus.
Retirem as esteiras onde os fiéis mais velhos na frente se ajoelharam, apaguem as velas, recolham e cubram respeitoso o santo no oratório, mais água nos carburetos, abanquem-se, damas, cavalheiros. O que vos peço é a respectiva ordem. Daqui um instante corre um chocolate, um agrado da nossa irmandade, não arreparem na insignificância. Mais vale o coração que a majestade.
— Desacanhem-se, senhores e senhoritas. O que rogo é o cavalheirismo e por parte das excelentíssimas damas o bom apreço. Tirada pelo cavalheiro, negar a mão, ofende a casa, ofende o santo. A cortesia é um mandamento.
Junto ao oratório, o clarinete, o pistão, o violão, o cavaquinho, afinavam, e lhes foi servido, pelo seu Almerindo, cerimoniosamente, um cálice de vinho do Porto.
— Aqui tudo na boa disposição recreativa. A moralidade é o nosso fanal, Espero de todos a fina educação que receberam em família e nos bancos da escola conforme Deus foi servido. Aqui nunca divisei, graças ao São Sebastião, uma menor maresia que fosse, fosse malquerença ou contrariedade, um desgostar por parte de dama e um mau recebimento por parte de cavalheiro, que nunca houve, nunca houve, meus irmãos da Irmandade tenho por bom testemunho. Um desentendimento que fosse, dentro ou fora do salão, está para haver, e sei que não vai haver. Da feita que o amigo entrou nesta casa, deixou na beira do 266 rio e do mato o mau bofe que tiver, o arroto da má conduta, os rancores e os maus propósitos que o semelhante, por malefício, sorte ou pena, carrega pelo mundo. Eu tenho que hoje, nos dias do festejo, tudo correrá trivial e na honrada brincadeira, sendo observado, por código. que o abuso da bebida no mato e na beirada será muito fiscalizado por pessoas de nossa inteira e secreta confiança e muito habilidosas em averiguar de onde provém a fonte do álcool que, muito ingerido, só causa incomodamento, além das demais calamidades, que Deus nos livre. O salão ás ordens. A Irmandade recomenda. A distinta orquestra pode começar os acordes. Auguro para as damas e cavalheiros o uso-fruto do bom divertimento e agora muito jubiloso congratulo-nie, viva o São Sebastião que val tudo, viva o São Sebastião, viva o São Sebastião, tenho dito. Viva o São Sebastião.
Debaixo da salva de palmas, rindo, seu Almerindo passou pelo Alfredo:
— Um dia estará também fazendo representação. O dom da palavra dado por Deus é. A mim não deu. Mas mesmo desentoando, não me avexo.
Diante dos primeiros pares. Alfredo sentiu-se um pouco avesso, quase assustado. Sem ao menos dar pela presença dele, as moças passavam tão perto e ele via nestas a naturalidade fingida, naquelas um enfaceiramento encabulado; as quantas, num bolo, ás carreiras, saindo, para o terreiro, beirada, pedrais, o açaizal, nos segredinhos, corrigiam o vestido, a anágua, prende o meu colchete. Romualda, me abotoa, tua mão tem grude? Ah esta meia... ainda bem que eu abusei de meia. E a Zenaide, tu viste? De chinela, mea mana! Aquele sapato dela, o amarelo, então, de pelica, já estragou? Que nada, aquela — menina, então ela não se alagou, perdeu um vestido de cretone, um broche, o sapato... Calçado anda agora é um qualquer peixe no rio... Alfredo espiando. A cintura duma que o rapaz deu o seu laço como um sucuriju. A de outra em que a m do cavalheiro se afundou feito uma faca. E aqui esta tão pouca idade e dona do baile. Elas até de outra raça par ciam. Carregavam o índio no semblante, índio no passo, índio na brabeza mansa no falar, dançar, ouvir, espiar. 267 Esta aqui levou o braço do homem lá em cima como se fosse disparar flecha. Não eram as moças pobres no baile do chalé nem as moças de Belém na porta e janela das primas ou nos Alcântaras nem aquelas da Areinha homenageando a mãe, Moças que ele via com uns olhos não mais de menino e não ainda de rapaz. Desconhecidas, cheiravam a rezinas, a raízes, estavam muito cheirando; meladas de toucinho algumas, como se fosse próprio delas; outras tão sem sossego que pareciam peixes saltando da tarrafa; seus vestidos desajeitados ou fora da moda, cores espantadas ou fazenda fina, eram todos, até os feios, muito bonitos. Deviam ter custado uma conversação durante mês no rio com a costureira — algum deles talhado pelo Leônidas? — ou elas mesmas costurando, ou remando estirões atrás de quem talhasse a etamine, o cretone, o cetim; e máquina que faltava? Tudo isso, a mãe contava do Araquiçaua, barracão da d. Maria das Dores, esposarana do seu Raimundo Reis, mãe da Socorro, esta uma alta rapariga bem donzela, que só entrava na horta cantando, a apanhar coentro, se cobria de couve, tinha uma arte no bater pilão, e cedo tirando leite da vaca zebua branca: do alguidar cheio lambia a espuma mas a zebua, foi comer uma erva venenosa, amanheceu caída ao pé do miritizeiro, grande, branca, tão cheia de sua morte, com a Socorro em cima chorando, como se chorasse o fim de uma pessoa. Também se falava de uma velha máquina de costura, velhinha, mal chegava para os vestidos, desde Laranjeira Araquiçaua, até Santana. Não se sabe como sumiu, disque levada para o fundo, pra costurar o vestido da Jacirema, esta que nunca mais se desencantou.
Assim estava, quando no seu ombro a mão de leve: a d. Prisca, mas d. Prisca, da Cachoeira? Estendendo a mio para ele, feita um cavalheiro tirando dama, a sia Prisca que o levava no colo pela beira do rio? Ainda mais a aparição. Mas era. Que veio fazer a semelhante que agora espicha a mão, dizendo: «voltear no salão, meu cavalheiro»?
À barriguinha saliente na saia de ramagens, a bruta rosa no cabelo, recendia a priprioca, o pó no rosto escuro.
268 A d. Prisca, que sempre repetia o que ele dizia naquele tempo de colo: mamãe ciá, mamãe, clã.
— Te levava pra clã, agora a dançar te levo. Vá ver se me agradece. Desendurece o corpo. bezerro brabo.
Quando a parte acabou, Alfredo refugiou-se no terreiro, escuro, cheiro de cachaça, peixe assando, toucinho, na puxada de palha onde socavam pilão a cabra berrava. Seu Almerindo o encontrou, pegou-lhe a mão, puxou-o para dentro, distribuindo risadas, suas amabilidades de efes e eres, al e ar e logo franzindo a cara quando convinha.
— D. Prisca, d. Prisca, faça-me o obséquio, me desmame este meu encolhidinho no escuro, por gentileza.
Alfredo se repuxou pelas paredes, ao pé das mulheres que se acumulavam no corredor, de olhos no salão, adornando os filhos, outras com cuias de mingau fumacento. esta com a garrafa feito mamadeira, e três rostos juntos quase iguais que tão depressa envelheciam, qual daquelas a Botão, naturalmente mãe de filho, jogada pelo Major Alberto na montaria debaixo dos fogos, e agora aqui, não mais de salão, espiante do corredor?
Aumentou no salão o número dos pares e viu foi o seu Almerindo parando um par, logo levando a dama à parte para segredar-lhe, sem agastamento mas sem apelo: descalça, isto que não, mea filha.
Tivesse paciência. A senhora dele podia lhe emprestar uma chinela, um sapato, que graças a Deus a patroa tinha três. Assim podia gozar de dois pares não muito usados, que isto de sapato, vez por. outra, a patroa usava, mas nas cerimonias. Por sinal, coitada, estava com o pé ferido, sempre maldizendo a invenção do sapato, embora considerasse que as filhas, o marido, toda. essa gente, era de obrigação calçar-se. Mas ela, acostumada ao chão do sitio, por que? Em todo o caso para a rigoridade da festa. estava a calçada com o seu avermelhado, um couro fino macio na pele mas sempre aquele apertume nos .dedos, queixava-se. Alfredo seguiu o dono da casa e a dama de pé no chio, seu Almerindo consultou a mulher e esta, voltando com um sapato, mediu o pé escoteiro da dama, até bem bonitinha nem tanto muito envergonhada, chegada lá 269 do Setepele. Só se via no jeitinho de escutar, de quem faz arteirice, de esticar o pé, a pura animação por dança. De tio longe e sem o que para calçar. Calçasse. Mediu o pé. provou o calçado, Alfredo torcendo para que a Geralda, o nome que soube, coubesse na medida. Coube. Agora saracoteie na bota alheia. Então foi que ela veio calçada, se amparando pelas paredes e muito da vergonhosa, rejeitou par, a sentar-se no banco rente do peitoril do alpendre sobre o terreiro. Alguém falou em sebo de boi para amaciar.
— Que nada, menina, não me acostumo. Estraguei foi à noite.
Quem? Quem, arara, que te estragou a noite? perguntou a d. Prisca levando a peiada para os fundos novamente; Geralda voltou mais desembaraçada dos pés, ainda assim fez com o dedo minguinho que não ao cavalheiro, sentou-se; se pôs a disfarçar e deu com o olhar de Alfredo nela. Ela até se divertiu com o olhinho daquele quase rapaz crescidinho, não fosse o joelho à mostra; até que podiam os dois fazer uma fita, s6 para uma pura ilusão, devia ser da cidade? Mesmo de calça curta, já valia, mas dançar, dançava? Ia criar aquelezinho no seu braço ao som da dança. Ou caçoava dela, prestando atenção ao caso do sapato? A família, justiça seja feita, até sapato lhe arranjou na precisão em que ela estava: tinha, por isso, de corresponder ás boas educações de pessoas tão atenciosas. O seu Almerindo pôs reparo no meu pé, chamou Aparte por muito delicado, não querendo ninguém descalço no salão nem por isto ralhou alto ou envergonhou; teve logo a providencia de ver um sapato sobrando lá dentro e a medir o pé dela, tão graúdo, tão asselvajado, e não foi que cabeu e ai! a sina de ter de calçar o alheio! Mocinho, ai, tu me compra lá na cidade um par? Nunca fui na cidade, estou olhando nos teus olhos a cidade, as muitas casas, uma na ilharga da outra, que nem folha na folhagem, as lojas de sapatos, quantidade, assim me contam os embarcadiços, o primo Eliziário, as caixas da sapataria embrulhadas em papel que serve de muito enfeite, passam debaixo dos toldos, nas lanchas, aquela porção. Mas nem tanta pessoa neste rio goza dum sapato. Vem cá mais 270 perto, meu desconfiado, conversar, sim, pra ver se passa esta encabulação, este meu medo de dançar calçada, ah se tal soubesse, eu que vinha? Sempre foi o meu gosto, dançar de pé no chão. Mas aqui é este luxo, não te gabo. Uai! Então a sia Prisca já me vem arrastando o meu zinho para a dança? Ora, mas se mire, tamanha velha, mas d. Prisca! Se bem que a senhora deu um jeito no meu pé, vá saber as suas feitiçarias e o uso das banhas que faz, a sua mão benzida. Não digo que foi uma praga eu ter vindo?
E d. Prisca dançava com o seu antigo curumim de colo. Habituada a dançar tantos anos, dançava vagaroso como quem passava roupa, ajeitou o sapato da Geralda, levou o Alfredo ao passeio. Alfredo, no braço dela, contrafeito. ia-não-ia sem um passo certo. Agora se lembrava do papel da d. Prisca no chalé. Sim, que a mãe dizia, d. Prisca ia fazer o favor de levá-lo a passeio, beira do rio, ver a lancha passar. D. Prisca freqüentou o chalé mais por curiosidade, a saber que acontecia na convivência entre aquela preta e um branco de posição. Ou por inveja ou por saber as coisas, era constante nos primeiros meses da chegada de Amélia a Cachoeira e contam que ela foi com seus olhos ver, seu faro, se o gito da Amélia era de verdade gerado com o Major Alberto. E foi a primeira a aprovar, dava seu testemunho, espalhou, com louvores, a proeza da Amélia, na noite de São Marçal, quando escarrou na cara da aleivosa. D. Prisca, porém, aceitou namoro com um promotor público, que a d. Amélia sabia. Por isso, d. Prisca se afastou do chalé, com medo que o promotor, vendo o exemplo do Major, não quisesse casar e tio só montar casa. Mas esta Prisca escurinha de Cachoeira? Só no juiz, seu doutor. Seu branco promotor, ser sua rapariga eu não. E assim nos amores com o promotor público, nem foi no juiz nem atrás da porta, sem nunca se saber em Cachoeira se era donzela ou não a d. Prisca. Ela parece que tinha um certo gosto de conservar a dúvida. Veio a idade, d. Prisca a sua paixão guardou. Agora, contava ao seu par, como veio a Santana: de favor na montaria de um vendedor de açaí. Sem tolda na embarcação, com sol e chuva, a bota molhou, vazando; mas vir a Santana tinha sido 271 promessa. Da feita que fazia, cumpria. O povo maldava: na sombra da promessa, a promesseira ia era ganhando o oficio de pão de festa, para depois bater língua do que viu, não viu, não me deixa dizer senão eu minto. Fina em farejar quanta reza e arrasta pé houvesse, Arari abaixo, Arari acima, remando, em cima de boi cargueiro pelos campos, mesmo a pé, cumpria a sua promessa. Mas quem via, sustentava: a d. Prisca onde ia, pagava a entrada, logo serviçal da festa, aquela sempre boa pessoa das mais prestativas. Desde o passar a toalha do santo, enfeitar, cortar as velas, ajudando as mães, quando as crianças emperreavam ou tinham desmancho, os tantos adjutórios de uma festa, a dona ou dono da casa via na d. Prisca a serventia em pessoa. Voltava bem satisfeita de contar tudo do que viu, sabia o direito e o avesso, tão bem, que estoriava. Quem fosse ouvir a d. Prisca voltando de uma festa, podia depois dizer: eu vi a festa. Ela, mais que um escrivão, debulhava o acontecido linha por linha por esses mil campos, barracões, igarapés, furos, braço de rio, onde se rezasse e dançasse.
Era cessar o seu auxílio nos serviços da festa, se escondia para um banho, poço ou igarapé, atrás dos açaizeiros, palhas ou sapopemas e voltava com o seu cheirinho no cabelo, mascando o seu tabaco, toda de roupa mudada, podia ser velho o vestido mas anágua branca pissuía e os brincos antigos de herança da mãe e o cordão com a Nossa Senhora de Nazaré na medalha. Pedia licença para entrar no quarto do espelho, penteava-se, mirava-se; a dona da casa não lhe negava um pouquinho de pó para a modo tirar o lustroso da cara. A filha de seu Almerindo lhe estendeu a pucarina azul, a pluma cor-de-rosa amaciou, empoou a face escura, — roída pelo tempo ou paixão recolhida? — da d. Prisca. Cravou o pente coque no cabelo, passou um cuspo no bico do sapato, apareceu na sala quase ao fim da ladainha, um rosto piedoso para o santo e outro, curioso. para o haver de pessoal que atulhava o salão. Ao banco em lugar o mais retirado menos na vista, a olhar os pares, se fazia então a pessoa de-parte, embevecida de vê-los dançando, e esperava, sem para isso dar mostra, um cavalheiro de mais idade que a tirasse para uma polca. Na polca era mestra, ou xótix. Tirada, certamente, na hora 272 da quadrilha, ocuparia seu posto, professora daquelas matutas estas de quadrilha cruas-cruas, não sabiam um passo. um lance, quanto mais um contrapasso.
Viu o Alfredo, nele se colou, Alfredo fugindo dela mas nunca a salvo porque a dama ao pé não descolava a ilharga do cavalheiro.
— Eu me fiz de tua ama de braço, não foi só a finada Lucíola.. Te ensinei a ciá te ensino agora a dançar. Não é naquele tempo que inventava colo pra passear. O colo, agora, é aprender o passo.
Ao levá-lo na valsa, d. Prisca sorria ás espiantes do corredor que lhe piscavam — seu par por que tão encabulado? Figurava uma responsabilidade dela faze-lo dançar. Os tios, rindo, e a mão na boca, achavam que o sobrinho estava em boa escola. D. Prisca não largava o lenço em que escondia um pouco de tabaco migado. Dinheiro, não. Na hora da volta, um e outro lhe dava uns trocados. por uma reza, receita de remédio, o conserto da blusa ou pregar um botão, ganhava uma farinha, sempre a sua onça de fumo. Alfredo fechava o rosto ao cheiro de sua dama, priprioca, tabaco e ferro de engomar.
Fugiu para o pedral e a dama velha a persegui-lo: fosse um homem, nadava para o barco, entrando pela boca do jacaré saindo pelo rabo. Ora, a sia Prisca pensava segurá-lo numa idade de que ele precisava sair o mais breve? Queria conservá-lo menino da Lucíola, na sua incompreensão do que acontecia nos Alcântaras, na Passagem, em d. Celeste, no aparecer do lázaro em meio do jogo? Foragido, renteando as paredes de palha do barracão por fora, encostou-se num açaizeiro baixo de palmas tão verdes imitando uma coroa, a coroa dos diamantes... De novo no pedral, quis escutar o resfolegar da baía. Desconfiou:
D. Prisca, chegada de Cachoeira, talvez a constância de dançar com ele fosse um propósito, uma combinação e só Andreza era capaz de semelhante enredo. Mandava a d. Prisca tirá-lo e quando menos esperasse ei-la saltando de detrás do baú e a fazer com as duas mãos uma noutra emendada no bico da boca a pura flauta da caçoagem.
273 Como tirar a limpo a desconfiança? No que buscava um meio, olhando aqui e ali, a d. Prisca o agarrava. Dizer não, não dizia por um escrúpulo. Mas não podia tirar, por uma esperteza, a mocinha do banco, a atar e a desatar a fitinha no cabelo, sempre insatisfeita quem sabe entretida com isso a noite inteira? Eivém a d. Prisca. Andreza, em cima do búfalo ou pendurada no açaizeiro, a tocar a flauta: olha, olha elezinho com a d. Prisca, quando é o doce do casamento?
Mau, mau, perdia sal a festa, ele que esperava saborear a noite para despedir-se do longo, doloroso, complicado menino, cujos restos ficavam nos Alcântaras, na inocentes, entre os cestos e paneiros do avo na Areinha. Sentou-se nas sapopemas da sumaúma e deu com o tio ao pé da laranjeira no meio de três moças. a baixa escurinha. vestindo encarnado, a segunda, redonduda, nuns sapatos brancos que mirava e remirava: a terceira, mais junto ao tio, magra, o queixo afinado, no cinto que afivelava um feixe de flor: apesar do vestido, em pelo estava, dava esta idéia. Tio e as três descansavam do baile. O tio dançava com a trindade, as três se revezavam, donas do cavalheiro. Talvez tivessem combinado namorar o tio as três juntas, o belo negro tinha o bastante para merecer três moças, incutir sonhos de casamento prometido a cada uma, e perdição e desenganos depois que o barco partisse. A. magra, embebida na contemplação do tio, tirou o cinto e laçou o seu cavalheiro que se inclinou, passou a boca pelo rosto dela e da segunda e da terceira e ergueu o rosto para a noite como um zebu na malhada. A magra, de chinelas, por falta de sapato não, descansava os pés. A meiguice de uma menina por vezes brotava dum sorriso dela e mal o tio lhe punha a mão no ombro, a meiguice virava um querer derramar-se no colo do homem, porque, embora toda escondida no vestido frouxo e acetinado, despida parecia. Um repente deixou-se do tio, correu para a beirada, escondeu-se: Alfredo atrás, viu: direita, as pernas abertas, deixando aquela espuma na praia. Logo voltou, chinela na mão, se agasalhou no ombro do tio, as duas se riam, caçoando do papel dela, das três a mais enamorada. O tio, um soberano, pouco falava, mangas de camisa, pois a baixa escurinha, 274 culpando o sereno, vestiu o dólmã do cabo, garbosa nas duas divisas. Fez um passo de soldado, empunhou a chinela da magra contra o tio: atirei no que vi, morto esteja, seu Sebastião.
Alfredo entre as sapopemas. Espião. Espião, a modo que ouvia das folhas. Espião. Mas o tio, coitadas, (também coitado do tio), pensava era na janela de São Mateus. No lugar de Dolores nem as três juntas. Por fim o tio passou a mão na cintura da magra que no ceder se esquivou. saltou, tropeçou nas raízes, voltando para atirar as duas ao peito do tio e retirá-las e deixar cair a sua cabeça no ombro do homem, O tio nas mais macias gargalhadas. E foguetes furaram o céu, a folhagem, meia-noite, seu Almerindo anunciava a quadrilha.
Sem perder de vista a sumaumeira, Alfredo avançou para aquela escuridão varada de morcegos que era a casa-grande, a capela, os Bezerras. Uma faixa de parede alvejou. Tajazeiros, besuntados na pouca lua que saía, guardavam o caminho. As vozes, porém, da cozinha e dos quartos cheios do barracão em festa prendiam mais que a fascinação da capela onde os santos ressonavam. A cabra berrou. Socavam pilão. A quadrilha no changê ledama do seu Almerindo confirmava: poucos como ele no Arari para marcar tão bem.
Mas fim a primeira parte? Já? De repente? Por que parou? Escoa-se o salão, enche-se o terreiro? O clarinetista escorre o bocal, aquele emborcou o cavaquinho? Do pé da laranjeira, o tio e as três voaram?
Correu para o tio Antônio, que nada explicou, lhe pedindo: fique no terreiro, quer armar rede, ir pro barco? Alfredo enfiou-se pelo corredor, foi aos fundos, deu com mulheres acocorocadas fumando, moças curiosando na puxada, a pressa do seu Almerindo, um surdo murmurar no quarto, de porta guardada. Deu um silêncio. Ao pé do jirau fervia a lata d’água. Alfredo queria ouvir, não ouvia, sim um abrir-fechar de mala, seu Almerindo pediu, baixo, o escoamento dos quartos, rogava ordem e paciência, esperava em Deus que tudo daquele imprevisto saísse conforme, que assim o baile continuaria, façam suas orações, suas 275 promes|sas, São Sebastião nos ouve. Tio Sebastião aonde andava? Mulheres no correr dos coqueiros atrás do barracão armavam redes ou amamentavam. Espalhadas no terreiro e na beirada as moças segredavam-se, abanavam-se, enxugavam o suor, iam na praia banhar o rosto, mas atentas, num vago terror, assustada curiosidade e mau pressentir. E o tio Sebastião? Abanando a fumaça, espremido no corredor, Alfredo esperou. até ouvir, lento, o primeiro gemido quase sem ser gemido. seguiu-se outro, breve mas forte, o terceiro mais concentrado, como se a gemente não quisesse ou se envergonhasse de gemer em tão plena festa. Alfredo via nos rostos, o temor, a incerteza, o adeus à festa, algumas rezavam e aqui aparece o tio Sebastião acompanhado das três debaixo do gemido mais fundo, foi um grito, Alfredo sentiu escuro, quis fugir, pode? estava preso, o gemer suspendia o barracão: logo o silêncio, entre a falância baixa, entrecortada de tosses, pigarros, tiniu o caneco no pote; veio um mais longo ai, súplica, apelo, o ai que foi morrendo e mais que de repente o choro, espalhando alfazema e alívio e vozes e passos pelo barracão e terreiro, nasceu! Alfredo invade o quarto, foi detido, «macho», escutou, viu ainda a mulher na esteira e na bacia de louça, sustentada pela senhora de seu Almerindo, a d. Prisca. que pegara a criança, lavava as mãos, limpando com o punho o suor da testa luzidia. Lá fora o seu Almerindo gritava: alvíssaras! Soltando foguetes, a orquestra rompesse a marcha, bateu palmas no terreiro, reabriu o salão, Já a d. Prisca matava a galinha, depenava, incumbia-se do primeiro caldo entre os aconselhamentos da superstição sobre parto e filho verde tão sem conta na boca das mulheres. Uma coisa ela sabia: a paciente tão bem pariu que só o trabalho que deu foi o de se pegar a criança. Mas que bonita pessoa, linda de rosto, peito e pente. Raça de parideira. Por dentro muito limpa. Estava agora dormindo.
— Seu Sebastião, aqui tem o violão, faça o bom obséquio de acompanhar abrilhantando a nossa modesta folia. 263 A honra é toda nossa. São Sebastião lhe agradece. Afine ao seu critério.
— Mas, seu Almerindo, acompanho muito mal. Arranhar corda é que eu sei.
— Falando de barriga cheia, O sr. já nasceu feito, conheço os seus cabedais. Não escasseie o que possui. Eu é que nada sei de metal e corda, ponteio só de voz.
E vendo o Alfredo no croatá, fez um espanto, um pesar.
— Oh!, meu filho, por que não me pediu vasilha mais apropriada? Graças a Deus ,embora pobres, temos. É um espoliozinho, mas procurando pelos armários se acha. Uma boa bacia de louça, é verdade que não arriscamos ela a todo instante. De louça, de regular louça, é. Foi tresvario da minha cabeça aí por uns doze ou dez anos, quando fui em Belém e vi a bacia na vitrina do armazém de ferragens. Não sei o que me deu, calculei os bagarotes, dava, não dava, maginei as faces de minha patroa me recebendo o presente. Só sei que me vi todo cuidadoso não me quebre a jóia já debaixo do toldo da «Flor do Arari», me lembro bem, a Flor», o encarregado era o finado Azarias, coitado. levou no dedo uma estrepada tola de espinha de tambaqui, arruinou, subiu pra cabeça. Uma belíssima criatura. Na bacia vim lavando os meus gitinhos no primeiro banho. Boa louça, marca da Alemanha. (Maria Emília, a bacia aqui, mea filha). A fabricação alemã dá muita fiança.
— Mas não é mais preciso.
— Ora muito que bem, até que disse umas palavras. Quem pouco fala, muito sabe. Mas estas suas palavras não merecem aplauso. Vai limpar as mãozinhas para fazer um bom obséquio ao seu amigo, na nossa bacia de louça, está me escutando? Para que são os obséquios? Quero um dia dizer que o meu amigo honrou a bacia de louça lavando as mãos, depois de saborear o bom toucinho da festa de São Sebastião de Santana.
— Não custava falar, acrescentou a moça que apertava a cintura com um cinto de elástico cheio de miçangas. Alfredo viu a louça branca, a toalha, um sabonete. Era então uma pessoa do Governo?
264 — Não, não precisa.
— Seus tios me disseram que o sr. é um mocinho de colégio, vem de férias. E ao que me parece, tem cabeça. Conheço o sr. Major Alberto, um homem de muito entender e escrever. Quem não aprova neste rio o sr. Major? E o fogo de artifício que armou em Santana na inauguração da draga? E aqui entre nós vos digo...
Baixou a voz para dizer que muito admirou a diplomacia do Major ao evitar o escândalo em Santana, que seria, se a senhora do dr. Bezerra se atracasse com a caboclinha por nome Botão que o nosso Intendente perdeu. E olhe que ela não dava na Botão, não. A cabocla é baixinha, envergonhada, mas isto de uma branca chegar e meter o braço na verônica da infeliz, alto lá, que, ao que me parece, a Botão metia as suas unhas na madame. Enfim, a diplomacia, a boa política, as maneiras do Major Alberto, evitou. O Major é a alma deste município tão panema com os seus Intendentes. O Major tem o conhecimento dos papéis, sabe mexer nos documentos que nem um doutor, até em foguetes, pois em foguetes e fogos bateu os de Belém, foi exato. E o Major nos deu o donativo do impresso e os foguetes. Não, não vai assear mais a mão no croatá. Aqui tem a bacia de louça. Esta não é só de branco lavar mão. Já serviu de pia para batismo. Merecia água do Jordão. Estude, menino, por nós. Eu não tive posses, o que sei é um pouco de algarismo. Não podia ter sido um bom agrimensor? Também em contabilidade. Bonita a armação do dever e haver, o sr. não acha, seu Sebastião?
O Tio Sabá apanhou o violão, acompanhou a folia, depois da ladainha, como se estivesse pensando em Dolores, seu acompanhamento não era em louvor do santo, não. O rosto mostrava uma aspereza. Erecto, um mastro de barco, e seus dentes, uma e outra vez, brilharam no clarão das velas, Atrás, perdido entre os convidados, o tio Antônio, não mais piloto do «Santo Afonso. Alfredo pôs-se a admirar a quantidade das moças: de calça comprida, ali faria quanta fita, tirar esta e aquela para as partes que a música ia tocando. Ajoelharam-se para o eleison e ele, de pé. dominou aquelas cabeleiras, as flores na cabeça, muitas com 265 azeite demais no cabelo, quantas de gaforinha solta, principalmente esta, aqui perto, de cachos e mais cachos. Ajoelhada, os cachos pelo ombro e colo, um pecado em pessoas não consoante com a ladainha.
Retirou-se para o terreiro, pode respirar, e se aproximou da beirada; a reza entoava doce e ao mesmo tempo suplicante, aumentando aqui fora o silêncio nem os bichos abriam boca. Voltou para apreciar o fim da folia, sempre o gogó do Vítor Uéua cantando, aquele mesmo de Cachoeira, altão, um pau seco no meio dos foliões, no seu ofício de abrir folia, puxar a voz mais lá em cima, a mão no canto da boca, o afinado lamento que saía condoído do seu gogó; o violão do tio respondia pouco e lento, e nos olhos do tio, não o santo, mas aquela imagem da São Mateus.
Retirem as esteiras onde os fiéis mais velhos na frente se ajoelharam, apaguem as velas, recolham e cubram respeitoso o santo no oratório, mais água nos carburetos, abanquem-se, damas, cavalheiros. O que vos peço é a respectiva ordem. Daqui um instante corre um chocolate, um agrado da nossa irmandade, não arreparem na insignificância. Mais vale o coração que a majestade.
— Desacanhem-se, senhores e senhoritas. O que rogo é o cavalheirismo e por parte das excelentíssimas damas o bom apreço. Tirada pelo cavalheiro, negar a mão, ofende a casa, ofende o santo. A cortesia é um mandamento.
Junto ao oratório, o clarinete, o pistão, o violão, o cavaquinho, afinavam, e lhes foi servido, pelo seu Almerindo, cerimoniosamente, um cálice de vinho do Porto.
— Aqui tudo na boa disposição recreativa. A moralidade é o nosso fanal, Espero de todos a fina educação que receberam em família e nos bancos da escola conforme Deus foi servido. Aqui nunca divisei, graças ao São Sebastião, uma menor maresia que fosse, fosse malquerença ou contrariedade, um desgostar por parte de dama e um mau recebimento por parte de cavalheiro, que nunca houve, nunca houve, meus irmãos da Irmandade tenho por bom testemunho. Um desentendimento que fosse, dentro ou fora do salão, está para haver, e sei que não vai haver. Da feita que o amigo entrou nesta casa, deixou na beira do 266 rio e do mato o mau bofe que tiver, o arroto da má conduta, os rancores e os maus propósitos que o semelhante, por malefício, sorte ou pena, carrega pelo mundo. Eu tenho que hoje, nos dias do festejo, tudo correrá trivial e na honrada brincadeira, sendo observado, por código. que o abuso da bebida no mato e na beirada será muito fiscalizado por pessoas de nossa inteira e secreta confiança e muito habilidosas em averiguar de onde provém a fonte do álcool que, muito ingerido, só causa incomodamento, além das demais calamidades, que Deus nos livre. O salão ás ordens. A Irmandade recomenda. A distinta orquestra pode começar os acordes. Auguro para as damas e cavalheiros o uso-fruto do bom divertimento e agora muito jubiloso congratulo-nie, viva o São Sebastião que val tudo, viva o São Sebastião, viva o São Sebastião, tenho dito. Viva o São Sebastião.
Debaixo da salva de palmas, rindo, seu Almerindo passou pelo Alfredo:
— Um dia estará também fazendo representação. O dom da palavra dado por Deus é. A mim não deu. Mas mesmo desentoando, não me avexo.
Diante dos primeiros pares. Alfredo sentiu-se um pouco avesso, quase assustado. Sem ao menos dar pela presença dele, as moças passavam tão perto e ele via nestas a naturalidade fingida, naquelas um enfaceiramento encabulado; as quantas, num bolo, ás carreiras, saindo, para o terreiro, beirada, pedrais, o açaizal, nos segredinhos, corrigiam o vestido, a anágua, prende o meu colchete. Romualda, me abotoa, tua mão tem grude? Ah esta meia... ainda bem que eu abusei de meia. E a Zenaide, tu viste? De chinela, mea mana! Aquele sapato dela, o amarelo, então, de pelica, já estragou? Que nada, aquela — menina, então ela não se alagou, perdeu um vestido de cretone, um broche, o sapato... Calçado anda agora é um qualquer peixe no rio... Alfredo espiando. A cintura duma que o rapaz deu o seu laço como um sucuriju. A de outra em que a m do cavalheiro se afundou feito uma faca. E aqui esta tão pouca idade e dona do baile. Elas até de outra raça par ciam. Carregavam o índio no semblante, índio no passo, índio na brabeza mansa no falar, dançar, ouvir, espiar. 267 Esta aqui levou o braço do homem lá em cima como se fosse disparar flecha. Não eram as moças pobres no baile do chalé nem as moças de Belém na porta e janela das primas ou nos Alcântaras nem aquelas da Areinha homenageando a mãe, Moças que ele via com uns olhos não mais de menino e não ainda de rapaz. Desconhecidas, cheiravam a rezinas, a raízes, estavam muito cheirando; meladas de toucinho algumas, como se fosse próprio delas; outras tão sem sossego que pareciam peixes saltando da tarrafa; seus vestidos desajeitados ou fora da moda, cores espantadas ou fazenda fina, eram todos, até os feios, muito bonitos. Deviam ter custado uma conversação durante mês no rio com a costureira — algum deles talhado pelo Leônidas? — ou elas mesmas costurando, ou remando estirões atrás de quem talhasse a etamine, o cretone, o cetim; e máquina que faltava? Tudo isso, a mãe contava do Araquiçaua, barracão da d. Maria das Dores, esposarana do seu Raimundo Reis, mãe da Socorro, esta uma alta rapariga bem donzela, que só entrava na horta cantando, a apanhar coentro, se cobria de couve, tinha uma arte no bater pilão, e cedo tirando leite da vaca zebua branca: do alguidar cheio lambia a espuma mas a zebua, foi comer uma erva venenosa, amanheceu caída ao pé do miritizeiro, grande, branca, tão cheia de sua morte, com a Socorro em cima chorando, como se chorasse o fim de uma pessoa. Também se falava de uma velha máquina de costura, velhinha, mal chegava para os vestidos, desde Laranjeira Araquiçaua, até Santana. Não se sabe como sumiu, disque levada para o fundo, pra costurar o vestido da Jacirema, esta que nunca mais se desencantou.
Assim estava, quando no seu ombro a mão de leve: a d. Prisca, mas d. Prisca, da Cachoeira? Estendendo a mio para ele, feita um cavalheiro tirando dama, a sia Prisca que o levava no colo pela beira do rio? Ainda mais a aparição. Mas era. Que veio fazer a semelhante que agora espicha a mão, dizendo: «voltear no salão, meu cavalheiro»?
À barriguinha saliente na saia de ramagens, a bruta rosa no cabelo, recendia a priprioca, o pó no rosto escuro.
268 A d. Prisca, que sempre repetia o que ele dizia naquele tempo de colo: mamãe ciá, mamãe, clã.
— Te levava pra clã, agora a dançar te levo. Vá ver se me agradece. Desendurece o corpo. bezerro brabo.
Quando a parte acabou, Alfredo refugiou-se no terreiro, escuro, cheiro de cachaça, peixe assando, toucinho, na puxada de palha onde socavam pilão a cabra berrava. Seu Almerindo o encontrou, pegou-lhe a mão, puxou-o para dentro, distribuindo risadas, suas amabilidades de efes e eres, al e ar e logo franzindo a cara quando convinha.
— D. Prisca, d. Prisca, faça-me o obséquio, me desmame este meu encolhidinho no escuro, por gentileza.
Alfredo se repuxou pelas paredes, ao pé das mulheres que se acumulavam no corredor, de olhos no salão, adornando os filhos, outras com cuias de mingau fumacento. esta com a garrafa feito mamadeira, e três rostos juntos quase iguais que tão depressa envelheciam, qual daquelas a Botão, naturalmente mãe de filho, jogada pelo Major Alberto na montaria debaixo dos fogos, e agora aqui, não mais de salão, espiante do corredor?
Aumentou no salão o número dos pares e viu foi o seu Almerindo parando um par, logo levando a dama à parte para segredar-lhe, sem agastamento mas sem apelo: descalça, isto que não, mea filha.
Tivesse paciência. A senhora dele podia lhe emprestar uma chinela, um sapato, que graças a Deus a patroa tinha três. Assim podia gozar de dois pares não muito usados, que isto de sapato, vez por. outra, a patroa usava, mas nas cerimonias. Por sinal, coitada, estava com o pé ferido, sempre maldizendo a invenção do sapato, embora considerasse que as filhas, o marido, toda. essa gente, era de obrigação calçar-se. Mas ela, acostumada ao chão do sitio, por que? Em todo o caso para a rigoridade da festa. estava a calçada com o seu avermelhado, um couro fino macio na pele mas sempre aquele apertume nos .dedos, queixava-se. Alfredo seguiu o dono da casa e a dama de pé no chio, seu Almerindo consultou a mulher e esta, voltando com um sapato, mediu o pé escoteiro da dama, até bem bonitinha nem tanto muito envergonhada, chegada lá 269 do Setepele. Só se via no jeitinho de escutar, de quem faz arteirice, de esticar o pé, a pura animação por dança. De tio longe e sem o que para calçar. Calçasse. Mediu o pé. provou o calçado, Alfredo torcendo para que a Geralda, o nome que soube, coubesse na medida. Coube. Agora saracoteie na bota alheia. Então foi que ela veio calçada, se amparando pelas paredes e muito da vergonhosa, rejeitou par, a sentar-se no banco rente do peitoril do alpendre sobre o terreiro. Alguém falou em sebo de boi para amaciar.
— Que nada, menina, não me acostumo. Estraguei foi à noite.
Quem? Quem, arara, que te estragou a noite? perguntou a d. Prisca levando a peiada para os fundos novamente; Geralda voltou mais desembaraçada dos pés, ainda assim fez com o dedo minguinho que não ao cavalheiro, sentou-se; se pôs a disfarçar e deu com o olhar de Alfredo nela. Ela até se divertiu com o olhinho daquele quase rapaz crescidinho, não fosse o joelho à mostra; até que podiam os dois fazer uma fita, s6 para uma pura ilusão, devia ser da cidade? Mesmo de calça curta, já valia, mas dançar, dançava? Ia criar aquelezinho no seu braço ao som da dança. Ou caçoava dela, prestando atenção ao caso do sapato? A família, justiça seja feita, até sapato lhe arranjou na precisão em que ela estava: tinha, por isso, de corresponder ás boas educações de pessoas tão atenciosas. O seu Almerindo pôs reparo no meu pé, chamou Aparte por muito delicado, não querendo ninguém descalço no salão nem por isto ralhou alto ou envergonhou; teve logo a providencia de ver um sapato sobrando lá dentro e a medir o pé dela, tão graúdo, tão asselvajado, e não foi que cabeu e ai! a sina de ter de calçar o alheio! Mocinho, ai, tu me compra lá na cidade um par? Nunca fui na cidade, estou olhando nos teus olhos a cidade, as muitas casas, uma na ilharga da outra, que nem folha na folhagem, as lojas de sapatos, quantidade, assim me contam os embarcadiços, o primo Eliziário, as caixas da sapataria embrulhadas em papel que serve de muito enfeite, passam debaixo dos toldos, nas lanchas, aquela porção. Mas nem tanta pessoa neste rio goza dum sapato. Vem cá mais 270 perto, meu desconfiado, conversar, sim, pra ver se passa esta encabulação, este meu medo de dançar calçada, ah se tal soubesse, eu que vinha? Sempre foi o meu gosto, dançar de pé no chão. Mas aqui é este luxo, não te gabo. Uai! Então a sia Prisca já me vem arrastando o meu zinho para a dança? Ora, mas se mire, tamanha velha, mas d. Prisca! Se bem que a senhora deu um jeito no meu pé, vá saber as suas feitiçarias e o uso das banhas que faz, a sua mão benzida. Não digo que foi uma praga eu ter vindo?
E d. Prisca dançava com o seu antigo curumim de colo. Habituada a dançar tantos anos, dançava vagaroso como quem passava roupa, ajeitou o sapato da Geralda, levou o Alfredo ao passeio. Alfredo, no braço dela, contrafeito. ia-não-ia sem um passo certo. Agora se lembrava do papel da d. Prisca no chalé. Sim, que a mãe dizia, d. Prisca ia fazer o favor de levá-lo a passeio, beira do rio, ver a lancha passar. D. Prisca freqüentou o chalé mais por curiosidade, a saber que acontecia na convivência entre aquela preta e um branco de posição. Ou por inveja ou por saber as coisas, era constante nos primeiros meses da chegada de Amélia a Cachoeira e contam que ela foi com seus olhos ver, seu faro, se o gito da Amélia era de verdade gerado com o Major Alberto. E foi a primeira a aprovar, dava seu testemunho, espalhou, com louvores, a proeza da Amélia, na noite de São Marçal, quando escarrou na cara da aleivosa. D. Prisca, porém, aceitou namoro com um promotor público, que a d. Amélia sabia. Por isso, d. Prisca se afastou do chalé, com medo que o promotor, vendo o exemplo do Major, não quisesse casar e tio só montar casa. Mas esta Prisca escurinha de Cachoeira? Só no juiz, seu doutor. Seu branco promotor, ser sua rapariga eu não. E assim nos amores com o promotor público, nem foi no juiz nem atrás da porta, sem nunca se saber em Cachoeira se era donzela ou não a d. Prisca. Ela parece que tinha um certo gosto de conservar a dúvida. Veio a idade, d. Prisca a sua paixão guardou. Agora, contava ao seu par, como veio a Santana: de favor na montaria de um vendedor de açaí. Sem tolda na embarcação, com sol e chuva, a bota molhou, vazando; mas vir a Santana tinha sido 271 promessa. Da feita que fazia, cumpria. O povo maldava: na sombra da promessa, a promesseira ia era ganhando o oficio de pão de festa, para depois bater língua do que viu, não viu, não me deixa dizer senão eu minto. Fina em farejar quanta reza e arrasta pé houvesse, Arari abaixo, Arari acima, remando, em cima de boi cargueiro pelos campos, mesmo a pé, cumpria a sua promessa. Mas quem via, sustentava: a d. Prisca onde ia, pagava a entrada, logo serviçal da festa, aquela sempre boa pessoa das mais prestativas. Desde o passar a toalha do santo, enfeitar, cortar as velas, ajudando as mães, quando as crianças emperreavam ou tinham desmancho, os tantos adjutórios de uma festa, a dona ou dono da casa via na d. Prisca a serventia em pessoa. Voltava bem satisfeita de contar tudo do que viu, sabia o direito e o avesso, tão bem, que estoriava. Quem fosse ouvir a d. Prisca voltando de uma festa, podia depois dizer: eu vi a festa. Ela, mais que um escrivão, debulhava o acontecido linha por linha por esses mil campos, barracões, igarapés, furos, braço de rio, onde se rezasse e dançasse.
Era cessar o seu auxílio nos serviços da festa, se escondia para um banho, poço ou igarapé, atrás dos açaizeiros, palhas ou sapopemas e voltava com o seu cheirinho no cabelo, mascando o seu tabaco, toda de roupa mudada, podia ser velho o vestido mas anágua branca pissuía e os brincos antigos de herança da mãe e o cordão com a Nossa Senhora de Nazaré na medalha. Pedia licença para entrar no quarto do espelho, penteava-se, mirava-se; a dona da casa não lhe negava um pouquinho de pó para a modo tirar o lustroso da cara. A filha de seu Almerindo lhe estendeu a pucarina azul, a pluma cor-de-rosa amaciou, empoou a face escura, — roída pelo tempo ou paixão recolhida? — da d. Prisca. Cravou o pente coque no cabelo, passou um cuspo no bico do sapato, apareceu na sala quase ao fim da ladainha, um rosto piedoso para o santo e outro, curioso. para o haver de pessoal que atulhava o salão. Ao banco em lugar o mais retirado menos na vista, a olhar os pares, se fazia então a pessoa de-parte, embevecida de vê-los dançando, e esperava, sem para isso dar mostra, um cavalheiro de mais idade que a tirasse para uma polca. Na polca era mestra, ou xótix. Tirada, certamente, na hora 272 da quadrilha, ocuparia seu posto, professora daquelas matutas estas de quadrilha cruas-cruas, não sabiam um passo. um lance, quanto mais um contrapasso.
Viu o Alfredo, nele se colou, Alfredo fugindo dela mas nunca a salvo porque a dama ao pé não descolava a ilharga do cavalheiro.
— Eu me fiz de tua ama de braço, não foi só a finada Lucíola.. Te ensinei a ciá te ensino agora a dançar. Não é naquele tempo que inventava colo pra passear. O colo, agora, é aprender o passo.
Ao levá-lo na valsa, d. Prisca sorria ás espiantes do corredor que lhe piscavam — seu par por que tão encabulado? Figurava uma responsabilidade dela faze-lo dançar. Os tios, rindo, e a mão na boca, achavam que o sobrinho estava em boa escola. D. Prisca não largava o lenço em que escondia um pouco de tabaco migado. Dinheiro, não. Na hora da volta, um e outro lhe dava uns trocados. por uma reza, receita de remédio, o conserto da blusa ou pregar um botão, ganhava uma farinha, sempre a sua onça de fumo. Alfredo fechava o rosto ao cheiro de sua dama, priprioca, tabaco e ferro de engomar.
Fugiu para o pedral e a dama velha a persegui-lo: fosse um homem, nadava para o barco, entrando pela boca do jacaré saindo pelo rabo. Ora, a sia Prisca pensava segurá-lo numa idade de que ele precisava sair o mais breve? Queria conservá-lo menino da Lucíola, na sua incompreensão do que acontecia nos Alcântaras, na Passagem, em d. Celeste, no aparecer do lázaro em meio do jogo? Foragido, renteando as paredes de palha do barracão por fora, encostou-se num açaizeiro baixo de palmas tão verdes imitando uma coroa, a coroa dos diamantes... De novo no pedral, quis escutar o resfolegar da baía. Desconfiou:
D. Prisca, chegada de Cachoeira, talvez a constância de dançar com ele fosse um propósito, uma combinação e só Andreza era capaz de semelhante enredo. Mandava a d. Prisca tirá-lo e quando menos esperasse ei-la saltando de detrás do baú e a fazer com as duas mãos uma noutra emendada no bico da boca a pura flauta da caçoagem.
273 Como tirar a limpo a desconfiança? No que buscava um meio, olhando aqui e ali, a d. Prisca o agarrava. Dizer não, não dizia por um escrúpulo. Mas não podia tirar, por uma esperteza, a mocinha do banco, a atar e a desatar a fitinha no cabelo, sempre insatisfeita quem sabe entretida com isso a noite inteira? Eivém a d. Prisca. Andreza, em cima do búfalo ou pendurada no açaizeiro, a tocar a flauta: olha, olha elezinho com a d. Prisca, quando é o doce do casamento?
Mau, mau, perdia sal a festa, ele que esperava saborear a noite para despedir-se do longo, doloroso, complicado menino, cujos restos ficavam nos Alcântaras, na inocentes, entre os cestos e paneiros do avo na Areinha. Sentou-se nas sapopemas da sumaúma e deu com o tio ao pé da laranjeira no meio de três moças. a baixa escurinha. vestindo encarnado, a segunda, redonduda, nuns sapatos brancos que mirava e remirava: a terceira, mais junto ao tio, magra, o queixo afinado, no cinto que afivelava um feixe de flor: apesar do vestido, em pelo estava, dava esta idéia. Tio e as três descansavam do baile. O tio dançava com a trindade, as três se revezavam, donas do cavalheiro. Talvez tivessem combinado namorar o tio as três juntas, o belo negro tinha o bastante para merecer três moças, incutir sonhos de casamento prometido a cada uma, e perdição e desenganos depois que o barco partisse. A. magra, embebida na contemplação do tio, tirou o cinto e laçou o seu cavalheiro que se inclinou, passou a boca pelo rosto dela e da segunda e da terceira e ergueu o rosto para a noite como um zebu na malhada. A magra, de chinelas, por falta de sapato não, descansava os pés. A meiguice de uma menina por vezes brotava dum sorriso dela e mal o tio lhe punha a mão no ombro, a meiguice virava um querer derramar-se no colo do homem, porque, embora toda escondida no vestido frouxo e acetinado, despida parecia. Um repente deixou-se do tio, correu para a beirada, escondeu-se: Alfredo atrás, viu: direita, as pernas abertas, deixando aquela espuma na praia. Logo voltou, chinela na mão, se agasalhou no ombro do tio, as duas se riam, caçoando do papel dela, das três a mais enamorada. O tio, um soberano, pouco falava, mangas de camisa, pois a baixa escurinha, 274 culpando o sereno, vestiu o dólmã do cabo, garbosa nas duas divisas. Fez um passo de soldado, empunhou a chinela da magra contra o tio: atirei no que vi, morto esteja, seu Sebastião.
Alfredo entre as sapopemas. Espião. Espião, a modo que ouvia das folhas. Espião. Mas o tio, coitadas, (também coitado do tio), pensava era na janela de São Mateus. No lugar de Dolores nem as três juntas. Por fim o tio passou a mão na cintura da magra que no ceder se esquivou. saltou, tropeçou nas raízes, voltando para atirar as duas ao peito do tio e retirá-las e deixar cair a sua cabeça no ombro do homem, O tio nas mais macias gargalhadas. E foguetes furaram o céu, a folhagem, meia-noite, seu Almerindo anunciava a quadrilha.
Sem perder de vista a sumaumeira, Alfredo avançou para aquela escuridão varada de morcegos que era a casa-grande, a capela, os Bezerras. Uma faixa de parede alvejou. Tajazeiros, besuntados na pouca lua que saía, guardavam o caminho. As vozes, porém, da cozinha e dos quartos cheios do barracão em festa prendiam mais que a fascinação da capela onde os santos ressonavam. A cabra berrou. Socavam pilão. A quadrilha no changê ledama do seu Almerindo confirmava: poucos como ele no Arari para marcar tão bem.
Mas fim a primeira parte? Já? De repente? Por que parou? Escoa-se o salão, enche-se o terreiro? O clarinetista escorre o bocal, aquele emborcou o cavaquinho? Do pé da laranjeira, o tio e as três voaram?
Correu para o tio Antônio, que nada explicou, lhe pedindo: fique no terreiro, quer armar rede, ir pro barco? Alfredo enfiou-se pelo corredor, foi aos fundos, deu com mulheres acocorocadas fumando, moças curiosando na puxada, a pressa do seu Almerindo, um surdo murmurar no quarto, de porta guardada. Deu um silêncio. Ao pé do jirau fervia a lata d’água. Alfredo queria ouvir, não ouvia, sim um abrir-fechar de mala, seu Almerindo pediu, baixo, o escoamento dos quartos, rogava ordem e paciência, esperava em Deus que tudo daquele imprevisto saísse conforme, que assim o baile continuaria, façam suas orações, suas 275 promes|sas, São Sebastião nos ouve. Tio Sebastião aonde andava? Mulheres no correr dos coqueiros atrás do barracão armavam redes ou amamentavam. Espalhadas no terreiro e na beirada as moças segredavam-se, abanavam-se, enxugavam o suor, iam na praia banhar o rosto, mas atentas, num vago terror, assustada curiosidade e mau pressentir. E o tio Sebastião? Abanando a fumaça, espremido no corredor, Alfredo esperou. até ouvir, lento, o primeiro gemido quase sem ser gemido. seguiu-se outro, breve mas forte, o terceiro mais concentrado, como se a gemente não quisesse ou se envergonhasse de gemer em tão plena festa. Alfredo via nos rostos, o temor, a incerteza, o adeus à festa, algumas rezavam e aqui aparece o tio Sebastião acompanhado das três debaixo do gemido mais fundo, foi um grito, Alfredo sentiu escuro, quis fugir, pode? estava preso, o gemer suspendia o barracão: logo o silêncio, entre a falância baixa, entrecortada de tosses, pigarros, tiniu o caneco no pote; veio um mais longo ai, súplica, apelo, o ai que foi morrendo e mais que de repente o choro, espalhando alfazema e alívio e vozes e passos pelo barracão e terreiro, nasceu! Alfredo invade o quarto, foi detido, «macho», escutou, viu ainda a mulher na esteira e na bacia de louça, sustentada pela senhora de seu Almerindo, a d. Prisca. que pegara a criança, lavava as mãos, limpando com o punho o suor da testa luzidia. Lá fora o seu Almerindo gritava: alvíssaras! Soltando foguetes, a orquestra rompesse a marcha, bateu palmas no terreiro, reabriu o salão, Já a d. Prisca matava a galinha, depenava, incumbia-se do primeiro caldo entre os aconselhamentos da superstição sobre parto e filho verde tão sem conta na boca das mulheres. Uma coisa ela sabia: a paciente tão bem pariu que só o trabalho que deu foi o de se pegar a criança. Mas que bonita pessoa, linda de rosto, peito e pente. Raça de parideira. Por dentro muito limpa. Estava agora dormindo.
— Gente, vamos pra contradança em honra do acontecimento! Alvíssaras, capitão! D. Prisca. eu sabia que, nas faltas, a senhora atendia, pegava. Mas vejo que é-é uma diplomada. Por que não faz profissão? Seu atendimento foi a mando do São Sebastião. Foi tudo na maior bonança. Que seda a sua mão, d. Prisca, tem uma reza, 276 uma benzição especial? Mas o que sei é que o pirralho saiu no azeite.
Alfredo se aproximou da parteira, corno para pedir perdão.
— Meu filho, de um tudo se deve saber, fiz tão pouco. Aquela pra parir tão bem está sozinha. E que é que não se deve saber neste mundo?
Com o mesmo vagar com que dançava, preparava a galinha no jirau, mascando o seu tabaco, aos pés o monte das penas. Seu par de valsa já não passava de um qualquer no geral das pessoas. Alfredo apeteceu provar daquele caldo que ela ia fazer, ali tão entretida. Olhava para o quarto de onde vinha a leve defumação a alfazema. Aquela mãe fugiu de Belém ou das espadas? D. Prisca abrindo a galinha dava um ar de quem sabia.
E assim preocupado, suspeitoso, na mesma espionagem, viu aparecer devagar, as pestanas cerradas, quem, a Dolorosa? Mas vai d. Prisca, lhe chega a Dolorosa?
Vinha por promessa. Da ruim viagem de Cachoeira. até febre pegou entre Itacuã e Araquiçaua, pede agasalho no toldo de uma canoa fundeada, e quando chegou a Santana gelada de quebrar queixo, foi tão sem ânimo que deitar, dormir, morrer, foi só o que o corpo lhe pedia. Acordou foi no espanto do sucedido, ouvindo o nascer do inocente, E sim, senhor, quem havera de maginar, a bem dizer rapaz o filho da d. Amélia!
— A senhora não acha, d. Prisca? Quer uma ajuda?
— Te entrete com ele que eu agora tenho em que me ocupar, rapariga. Ele no primeiro banho se lavou com japana branca para ter namorada, Eu bem que sei.
Dolorosa apanhou a mão de Alfredo, este um tanto arisco, um pouco medroso, a modo que ela exalava febre.
— Vem cá comigo, seu crescido. Tomar ar no terreiro. Que-que tem ir comigo? Depois: salão, me ouviu?
D. Prisca, aperpare a canja e me guarde uma asa, Deixe estar que não jogo o osso pro cachorro pra a mãe parida não doer a barriga.
277 No terreiro, levado pela mão, Alfredo amansou um pouco, o ar cheirava a parto, a criancinha verde, em redor e lá fora as coisas também nasciam? Junto, com o escorrido cabelo bem penteado de quem vai tirar retrato, ainda era, ainda era,. a Dolorosa, a tão falada formosura. No chalé, muito assunto do Rodolfo: Dolorosa. Namorou o irmão dele, Ezequias, que se suicidou. De quem não foi namorada em Cachoeira? Aqui, meio desconsolada, olhava o terreiro com seus olhos bem pretinhos, as pestanas cobrindo-lhe o olhar, dali atirou suas flechas contra os homens. Levou-o ao salão, descobriu o santo no oratório, dobrou um joelho, benzeu-se.
— Agora o meu par, me de a honra, cavalheiro. Primeiro eu guio.
O rosto, de perto, um vinho de cupuaçu aquela face, a amarelidão, mansa, amadurecia ao som da orquestra, na luz do carburetos. Havia nos passos dela e demais movimentos uma resignação meio contente, meio fatigada e um sorrir nos olhos que era quase chorar, luzindo os beiços que lambia. Que se passava com Dolorosa?
— Seja agora o cavalheiro. Quem vai me guiar é sr. meu par efetivo.
Falava nos rapazes que ensinou a dançar. Dolorosa! Carregava fama, de tais prendas e formosuras, e de nunca se esperar que viesse, como veio, tão sozinha de Cachoeira a Santana, Se certo não dançou em baile de branco na vila, Dolorosa, onde chegava, fazia-se dona de salão, abrindo ala, desfiava soberbia. Aqui, desbotada, mantinha um certo orgulho, alheia aos cavalheiros, agarrando-se no Alfredo para não dar o gosto de esperar quem a tirasse do banco, ou dançar com qualquer um ou receosa de ser vista num croché, rejeitada, Dava-se conta de que era de outros soalhos, outras orquestras, sendo que foi aquela, aquela é. Falava num descanso, dançando paciente, as pestanas sombrosas. Até o dia da infelicidade, Dolorosa a soberania nunca perdeu, primeira dama, sedutora de face pálida, por vezes amarelosa, até que as rivais e inimigas diziam que comia terra, cheia de vermes com a sua cor 278 de metal dos pratos da banda. No pagode, isguete, forró ou festão de fazenda, sempre aparecia um pouco mais tarde, num trajar e preparo de rosto e cabelo que todos olhavam, de bem, de mal, o olhar geral. Alfredo chegou ver: Em cima dos seus sapatos escorrendo alvaiade, seus decotes, e para espanto geral as luvas brancas trazidas de Belém, o leque dourado, a Dolorosa atravessava o arraial, de azul a pura seda. a face empoada e rosada no alpendre da igreja, o queixo no peitoril, a espiar se lá dentro havia o suficiente de moça para vê-la entrar. Apanhando a saia, entrava, só e roçagante, até o pé do altar onde se ajoelhava, a missa inteira, na sua coquete devoção. Mas veio aquele dia. A mãe escondeu a filha, Dolorosa pariu, não pariu? Um tempo sumida. Vez ou outra, vista na beira do rio, lá em cima, entre as tarrafas e as garças que se enxugavam ao sol. E agora em Santana, sem mais aquele seu pedestal. Debaixo das pestanas cerradas, boiava uma paciência, uma mansidão, como se não tivesse ela a menor saudade do seu tempo de bela nem culpa. E guiava o Alfredo, apesar deste ser o cavalheiro, com a carinhosa segurança de quem tudo espera de seu bom aprendiz. O aprendiz deixava-se levar, indagador; qualquer coisa fervia em Dolorosa, era só a dança que ela queria ensinar, era? Era? A voz de Dolorosa, dando notícia de Cachoeira, das coisas que tanto apreciava em Alfredo mais menino — o carocinho guardou? — saía quente, soprava doce. Sabe de uma coisa, se fosse eu, eu mandava fazer uma caixa de veludo para guardar o teu tucumã... Tão descansada falava, as silabas umas com as outras escorregando do beiço, este um do mais bem talhado. Tinha visto a d. Amélia estendendo roupa no teso do quintal. Viu a d. Amélia no aterro. Aqui Alfredo esfriou: a mãe fora do chalé?
— Alfredo, meu filho, vigia o passo. Não olha o pé. Me sujiga a costa.
Um sossego no falar e no dançar que tanto agradava. Mas não queria com isso esconder alguma verdade sobre o chalé? A mãe no aterro a caminho de onde? D. Prisca. Dolorosa, por saberem coisas do chalé, queriam dar um 279 consolo? Certas de que ele encontraria a mãe pior-pior. emborcada na dispensa?
Ia sentindo, não esta febre, mas aquela, no respirar de sua dama, o vai e vem do colo, este aconchegar por parte dela um pouco ou muito sem propósito. Neste regaço, com o chorar do clarinete, sentia-se crescendo, rompendo a casca, a cada passo menos zinho — e teu filho, Dolorosa? Por que escondes? Nesses aqui balançando, ele mamou? Teu filho, tua mãe levou pra onde? Assim queria indagar, mas sem voz, que acontecia? Não era à moda da sia Prisca tesa igual bijarruna no vento, e sim meio reclinada, pegajosa; numa curva, a dama envolveu-lhe a nuca num abraço, noutra ele resvalou a cabeça no peito que ela dava com fartura e deu mais, quem que adivinhava? Desbotada que ficou, a outrora soberba, suava ainda as suas rezinas, aquele amarelume de pupunha. Quando se aproximou do peitoril cuspiu grosso, o que repugnou o cavalheiro. Comparou Dolorosa ás goiabas do Araquiçaua, docinhas mas amarelinhas de bicho, nem assim, tirante os bichos, deixadas de se comer. E tropeçou numa volta, o pé num vão de chão:
— Ai ai cai no poço...
— O pé? Bateu? Sabe com que passa?
Ele ia dizer não, mas ouviu:
— Beijo palmada abraço.
Quase em segredo beijo palmada abraço, tudo embebido em rezina, com o seu dançar tão íntimo. Dolorosa amarelava mais? E esta barriga, aqui lis escorregosa, quando se arredondou? Devia ser igual à talha grande de tua casa onde tua mãe, sem nunca guardar água, guardava secretos malefícios para vingar-se dos homens que da filha beberam o melhor caldo. Aqui nesta macia vertigem, ás vezes queimosa, Dolorosa suspirou, levando o par para o terreiro, era a ilha navegante que o levava para essa outra margem, até onde? atravessava o rio, a noite, as pedras, a ilha navegando, a primeira mulher?
280 Os tios, na cabeça da quadrilha, satisfeitos mais que satisfeitos. Corria o vinho, era o mijo da criança o seu Almerindo brindava.
Dolorosa não tirava os olhos do pedral, solitária, sossegada.
— Mas te deu um sono, meu anjo? Queres que te arme uma rede?
Foi despencando o penteado, até o chão a ponta do cabelo. Por isso! Por isso! Por isso que estava amarela. Mais sangue houvesse e sempre era pouco para aquele cabelo, aquele cabelo apuizeiro que lhe tirava a cor para o qual ela vivia, cabelo tanto que dava para encher uma almofada.
— Dorme em cima diste meu cabelo, dorme. Eu estendo no chão, tu deita.
Tio perto dele que, Alfredo sentiu no ombro roçarem os seios, quietos de tio maduros. No fundo negro dos seus cabelos, o rosto que nem lua, e esta, lá por cima, muito magra, mariscava no rio.
Em pouco, ela principiava a fazer tranças, a cabeça inclinada, o que fazia dela uma feiticeira na sombra. Os morcegos esvoaçavam pelos paredões de pedra forrados de mato. E semelhou que saía da Dolorosa aquele primeiro amarelume na nuvem, clareando, salpicado nas águas, desenhando os pedrais, os pássaros. as embarcações na cerração do rio. E agora, este olhar de professora amorosa que ela tem, este olhar, agora que é que diz? Adquiria uma cor de chão, um pouco adernada a fazer as suas tranças, de repente adormecida.
Os tios chamavam.
Um chocolate o seu Almerindo lhe trazia, xícara grande de florinhas roxas. Beijus no fogão, toucinho, a alva peneira de tapioca, alfazema. Apesar do vento que a baía soprava com os seus bofes fundos, estava calor, o baile suado, um vapor no saião. Andando, Dolorosa atirava as duas tranças para que o papagaio se dependurasse. Veio o tio Sebastião.
281 Chocolate, Dolorosa.
O tio puxou-a, ficaram conversando, meio misterioso. Alfredo queria ouvir, quis fugir, teve um medo, por dentro a vergonha, estava inteiro naquela conversação? Mas Dolorosa resumia-se a ouvir, o ar benevolente, cerrava as pestanas sobre o aprendiz que afastou corrido, ou tocado de um desejo de saltar n’água, apanhar aquele pássaro no vôo. Muitas coisas sentia como se estivesse ainda dentro do ovo, o olho aberto, olhando do fundo, sem poder pular da casca. Dolorosa e o tio caminhavam para o baile. Os músicos atacaram a quadrilha do dia raiando. Alfredo seguiu. Sempre o cheiro de parto, de criancinha verde, e da mulher lá fora que lhe deu o dia. A filha do seu Almerindo borrifava o chão do baile. A mãe parida ainda dormia? Berrou a cabra. Um rato! alguém gritou, saindo de cima dum feixe de varas. Alfredo não se fiava: rato ou surucucu?
— Surucucu nesta hora dorme, meu sobrinho, afiançou o tio Sebastião, como se tivesse acabado de visitar as cobras nas suas moradias. Aqui observou Alfredo: engraçado, esses dois tios, um era do mato, outro da água. O clarinete repenicava. Dolorosa seguia a marcação da quadrilha, muito atenciosa, era a mesma da noite? E foi parar a música, o seu Almerindo fechou a roda e do meio falou que a senhora parturiente ia ser levada até a beira do rio, ai embarcada, a recolher-se à residência de um compadre. conforme o seu destino, até que chegasse o seu esposo de Belém. Tio Antônio, sem explicar quem era a senhora nem o esposo, ao sobrinho adiantou, confidente: a residência era uma palhocinha um pouco abaixo de Santana, soalho de taboca, na maré só ficava de fora um degrauzinho da escadinha. Por baixo das tabocas, os peixes espiavam o quartinho onde a lamparina de azeite mal alumiava, mal deixava ver a folha de jornal grudada nas palhas e aquele Santo Ivo, só a cabeça da imagem, pesando no oratório de miriti.
E no ombro dos festeiros veio a rede azulada, de varandas brancas, que trazia a mãe, a criança no colo da Prisca, o São Sebastião no braço do seu Almerindo com o 282 papa|gaio-coleira no ombro, as rosas a serem postas na proa da embarcação, o pé de açucena, a panela de barro em que ia a canja, a procissão atrás. Subiram os foguetes. A um aceno do Diretor da Irmandade, a orquestra tocou a marcha da despedida. Alfredo olhou para Dolorosa que chorava, então se pôs no lado da sua dama e foi bom que ela pusesse a mão dele na cintura. Nos olhos molhados da criatura... que podia adivinhar? Carregada na rede, levada pelo São Sebastião, seguia a oculta rainha, o filho no colo da d. Prisca. diante dos olhos de Dolorosa. E o Alfredo soltou-se — agora sim, ia saber — correu e olhou na rede, não via senão o véu, o rosto desfeito, quieta, dormia ou ia feliz? Quem tu és? quase gritou, seguro agora pelo tio, já na mão da Dolorosa, esta a acariciar-lhe o cabelo. E foi então que a rede no ombro dos homens parou, esperando que os da catraia montassem a panacarica para cobrir mãe e. filho durante a viagem, Alguém atirou um travesseiro. As. rosas um feixe na proa e no banco o pé da açucena. O remeiro apanhou a panela de barro. Seu Almerindo ergueu o São Sebastião, as muitas fitas ao vento.
D. Prisca entregou o verdinho a uma cabocla de rosto imponente de quem vai receber um deus.
— São Sebastião de Santana vos de uma boa viagem boa viagem, um especial resguardo. Que o menino se livre da resfriardade do tempo. Do vosso ventre o fruto é bendito. Foi para nós uma alta merecendência. Que esse seu primeiro menino na boa fortuna se crie e de todo o bem se enriqueça, são as nossas preces, os nossos votos, os nossos presságios, a Irmandade formula... Não te falte o leite do peito, meu bem nascido, no sumo de tua mãe te agarra, que tua mãe é de boa ubre. De tudo isso fica a saudável natural rescordância. E que o Senhor Deus sopre no teu nariz, curumim, o folgo da vida, como reza na Escritura.
Todos em silêncio escutaram, mãe e filho levados, sob o guarda-sol à embarcação; franziu-se a água às primeiras remadas, o sol deu bem no rosto da Dolorosa que olhava longe, as pestanas luzindo como as asas dum inseto. No 283 rumor dos remos, foguetes, vozes, clarinete, palavras do seu Almerindo, o berrar da cabra, Alfredo escutou: cessava lá fora o tempo na bala. E de toda aquela iluminação da ilha viajando na meia-noite sobrava esta manhã desfeita no rio, nas palmeiras, no véu da misteriosa mão, nos olhos da Dolorosa.
Tio Antônio e tio Sebastião iniciavam as suas despedidas também, um tal de cumprimentos, o pelo sinal no oratório, o óbolo para a Irmandade, o apertar mão a mão, o muito adeus, desculpe a má palavra, alguma brincadeira, não foi por gosto, não leve em conta o mal agrado, que Alfredo se admirava de tanta diplomacia e isso era bom. Seu Almerindo, quase confidente, lhe deu o seu abraço:
— Os seus tios puxam uma cortesia fina. Debaixo daquela cor, é aquela alvura. Debaixo daquele couro cru é aquela seda. Veja neles o seu mais fino espelho do melhor cristal. São Sebastião de Santana te acompanhe. Te acompanhe e sempre bom vento sopre nas velas do teu tio. Que a Nossa Senhora da Boa Viagem vá a bordo.
Só lhe doía o mistério debaixo do véu, sim, mas tudo não foi o fim de uma idade? Longe daquela matança em Belém, um inocente, debaixo das palhas bem pobres, ia ter leite, ou açaí, ia ter mel, ou peixe, salvo-salvo? Dolorosa não acabava de chocar o pinto, tirando o rapaz dó ovo? Vamos suspender ferro, embarcar boi do branco, explicava o tio Antônio agora com a voz do leme. No meio das três o tio Sebastião solava no pinho o seu adeus até um dia. Adornando o queixo da magra, entre as duas que escutavam, o jugular do quepe ficava de lembrança. Já a maré bulia as folhas do aningal e dela embebeu-se a mata agora um limo gordo escorrendo sol e silêncio. O «Santo Afonso» suspendia ferro, ia subir, levanta o pano. Santana inteira, desde o São Sebastião até a cabra berrando, dava adeus. Seu Almerindo, o caçulinha ao colo, no ombro o papagaio, acenava; se mais falou, no barco já não se ouvia. E em Alfredo, debruçado na borda, no rio de alfazema, limo e sono, devagarzinho lhe veio dando uma saudade. Deixava 284 ali os sobejos do menino? Enterrou naquele chão e em Dolorosa o derradeiro caroço de tucumã?
— Adeus, três donzelas! era o tio ao pé da bijarruna.
«Enterrei mesmo em Santana, na pedra, todos os carocinhos?
Tôdolos. Tôdolos. Tôdolos.
Como dizia o pai. Tôdolos?
Alfredo se aproximou da parteira, corno para pedir perdão.
— Meu filho, de um tudo se deve saber, fiz tão pouco. Aquela pra parir tão bem está sozinha. E que é que não se deve saber neste mundo?
Com o mesmo vagar com que dançava, preparava a galinha no jirau, mascando o seu tabaco, aos pés o monte das penas. Seu par de valsa já não passava de um qualquer no geral das pessoas. Alfredo apeteceu provar daquele caldo que ela ia fazer, ali tão entretida. Olhava para o quarto de onde vinha a leve defumação a alfazema. Aquela mãe fugiu de Belém ou das espadas? D. Prisca abrindo a galinha dava um ar de quem sabia.
E assim preocupado, suspeitoso, na mesma espionagem, viu aparecer devagar, as pestanas cerradas, quem, a Dolorosa? Mas vai d. Prisca, lhe chega a Dolorosa?
Vinha por promessa. Da ruim viagem de Cachoeira. até febre pegou entre Itacuã e Araquiçaua, pede agasalho no toldo de uma canoa fundeada, e quando chegou a Santana gelada de quebrar queixo, foi tão sem ânimo que deitar, dormir, morrer, foi só o que o corpo lhe pedia. Acordou foi no espanto do sucedido, ouvindo o nascer do inocente, E sim, senhor, quem havera de maginar, a bem dizer rapaz o filho da d. Amélia!
— A senhora não acha, d. Prisca? Quer uma ajuda?
— Te entrete com ele que eu agora tenho em que me ocupar, rapariga. Ele no primeiro banho se lavou com japana branca para ter namorada, Eu bem que sei.
Dolorosa apanhou a mão de Alfredo, este um tanto arisco, um pouco medroso, a modo que ela exalava febre.
— Vem cá comigo, seu crescido. Tomar ar no terreiro. Que-que tem ir comigo? Depois: salão, me ouviu?
D. Prisca, aperpare a canja e me guarde uma asa, Deixe estar que não jogo o osso pro cachorro pra a mãe parida não doer a barriga.
277 No terreiro, levado pela mão, Alfredo amansou um pouco, o ar cheirava a parto, a criancinha verde, em redor e lá fora as coisas também nasciam? Junto, com o escorrido cabelo bem penteado de quem vai tirar retrato, ainda era, ainda era,. a Dolorosa, a tão falada formosura. No chalé, muito assunto do Rodolfo: Dolorosa. Namorou o irmão dele, Ezequias, que se suicidou. De quem não foi namorada em Cachoeira? Aqui, meio desconsolada, olhava o terreiro com seus olhos bem pretinhos, as pestanas cobrindo-lhe o olhar, dali atirou suas flechas contra os homens. Levou-o ao salão, descobriu o santo no oratório, dobrou um joelho, benzeu-se.
— Agora o meu par, me de a honra, cavalheiro. Primeiro eu guio.
O rosto, de perto, um vinho de cupuaçu aquela face, a amarelidão, mansa, amadurecia ao som da orquestra, na luz do carburetos. Havia nos passos dela e demais movimentos uma resignação meio contente, meio fatigada e um sorrir nos olhos que era quase chorar, luzindo os beiços que lambia. Que se passava com Dolorosa?
— Seja agora o cavalheiro. Quem vai me guiar é sr. meu par efetivo.
Falava nos rapazes que ensinou a dançar. Dolorosa! Carregava fama, de tais prendas e formosuras, e de nunca se esperar que viesse, como veio, tão sozinha de Cachoeira a Santana, Se certo não dançou em baile de branco na vila, Dolorosa, onde chegava, fazia-se dona de salão, abrindo ala, desfiava soberbia. Aqui, desbotada, mantinha um certo orgulho, alheia aos cavalheiros, agarrando-se no Alfredo para não dar o gosto de esperar quem a tirasse do banco, ou dançar com qualquer um ou receosa de ser vista num croché, rejeitada, Dava-se conta de que era de outros soalhos, outras orquestras, sendo que foi aquela, aquela é. Falava num descanso, dançando paciente, as pestanas sombrosas. Até o dia da infelicidade, Dolorosa a soberania nunca perdeu, primeira dama, sedutora de face pálida, por vezes amarelosa, até que as rivais e inimigas diziam que comia terra, cheia de vermes com a sua cor 278 de metal dos pratos da banda. No pagode, isguete, forró ou festão de fazenda, sempre aparecia um pouco mais tarde, num trajar e preparo de rosto e cabelo que todos olhavam, de bem, de mal, o olhar geral. Alfredo chegou ver: Em cima dos seus sapatos escorrendo alvaiade, seus decotes, e para espanto geral as luvas brancas trazidas de Belém, o leque dourado, a Dolorosa atravessava o arraial, de azul a pura seda. a face empoada e rosada no alpendre da igreja, o queixo no peitoril, a espiar se lá dentro havia o suficiente de moça para vê-la entrar. Apanhando a saia, entrava, só e roçagante, até o pé do altar onde se ajoelhava, a missa inteira, na sua coquete devoção. Mas veio aquele dia. A mãe escondeu a filha, Dolorosa pariu, não pariu? Um tempo sumida. Vez ou outra, vista na beira do rio, lá em cima, entre as tarrafas e as garças que se enxugavam ao sol. E agora em Santana, sem mais aquele seu pedestal. Debaixo das pestanas cerradas, boiava uma paciência, uma mansidão, como se não tivesse ela a menor saudade do seu tempo de bela nem culpa. E guiava o Alfredo, apesar deste ser o cavalheiro, com a carinhosa segurança de quem tudo espera de seu bom aprendiz. O aprendiz deixava-se levar, indagador; qualquer coisa fervia em Dolorosa, era só a dança que ela queria ensinar, era? Era? A voz de Dolorosa, dando notícia de Cachoeira, das coisas que tanto apreciava em Alfredo mais menino — o carocinho guardou? — saía quente, soprava doce. Sabe de uma coisa, se fosse eu, eu mandava fazer uma caixa de veludo para guardar o teu tucumã... Tão descansada falava, as silabas umas com as outras escorregando do beiço, este um do mais bem talhado. Tinha visto a d. Amélia estendendo roupa no teso do quintal. Viu a d. Amélia no aterro. Aqui Alfredo esfriou: a mãe fora do chalé?
— Alfredo, meu filho, vigia o passo. Não olha o pé. Me sujiga a costa.
Um sossego no falar e no dançar que tanto agradava. Mas não queria com isso esconder alguma verdade sobre o chalé? A mãe no aterro a caminho de onde? D. Prisca. Dolorosa, por saberem coisas do chalé, queriam dar um 279 consolo? Certas de que ele encontraria a mãe pior-pior. emborcada na dispensa?
Ia sentindo, não esta febre, mas aquela, no respirar de sua dama, o vai e vem do colo, este aconchegar por parte dela um pouco ou muito sem propósito. Neste regaço, com o chorar do clarinete, sentia-se crescendo, rompendo a casca, a cada passo menos zinho — e teu filho, Dolorosa? Por que escondes? Nesses aqui balançando, ele mamou? Teu filho, tua mãe levou pra onde? Assim queria indagar, mas sem voz, que acontecia? Não era à moda da sia Prisca tesa igual bijarruna no vento, e sim meio reclinada, pegajosa; numa curva, a dama envolveu-lhe a nuca num abraço, noutra ele resvalou a cabeça no peito que ela dava com fartura e deu mais, quem que adivinhava? Desbotada que ficou, a outrora soberba, suava ainda as suas rezinas, aquele amarelume de pupunha. Quando se aproximou do peitoril cuspiu grosso, o que repugnou o cavalheiro. Comparou Dolorosa ás goiabas do Araquiçaua, docinhas mas amarelinhas de bicho, nem assim, tirante os bichos, deixadas de se comer. E tropeçou numa volta, o pé num vão de chão:
— Ai ai cai no poço...
— O pé? Bateu? Sabe com que passa?
Ele ia dizer não, mas ouviu:
— Beijo palmada abraço.
Quase em segredo beijo palmada abraço, tudo embebido em rezina, com o seu dançar tão íntimo. Dolorosa amarelava mais? E esta barriga, aqui lis escorregosa, quando se arredondou? Devia ser igual à talha grande de tua casa onde tua mãe, sem nunca guardar água, guardava secretos malefícios para vingar-se dos homens que da filha beberam o melhor caldo. Aqui nesta macia vertigem, ás vezes queimosa, Dolorosa suspirou, levando o par para o terreiro, era a ilha navegante que o levava para essa outra margem, até onde? atravessava o rio, a noite, as pedras, a ilha navegando, a primeira mulher?
280 Os tios, na cabeça da quadrilha, satisfeitos mais que satisfeitos. Corria o vinho, era o mijo da criança o seu Almerindo brindava.
Dolorosa não tirava os olhos do pedral, solitária, sossegada.
— Mas te deu um sono, meu anjo? Queres que te arme uma rede?
Foi despencando o penteado, até o chão a ponta do cabelo. Por isso! Por isso! Por isso que estava amarela. Mais sangue houvesse e sempre era pouco para aquele cabelo, aquele cabelo apuizeiro que lhe tirava a cor para o qual ela vivia, cabelo tanto que dava para encher uma almofada.
— Dorme em cima diste meu cabelo, dorme. Eu estendo no chão, tu deita.
Tio perto dele que, Alfredo sentiu no ombro roçarem os seios, quietos de tio maduros. No fundo negro dos seus cabelos, o rosto que nem lua, e esta, lá por cima, muito magra, mariscava no rio.
Em pouco, ela principiava a fazer tranças, a cabeça inclinada, o que fazia dela uma feiticeira na sombra. Os morcegos esvoaçavam pelos paredões de pedra forrados de mato. E semelhou que saía da Dolorosa aquele primeiro amarelume na nuvem, clareando, salpicado nas águas, desenhando os pedrais, os pássaros. as embarcações na cerração do rio. E agora, este olhar de professora amorosa que ela tem, este olhar, agora que é que diz? Adquiria uma cor de chão, um pouco adernada a fazer as suas tranças, de repente adormecida.
Os tios chamavam.
Um chocolate o seu Almerindo lhe trazia, xícara grande de florinhas roxas. Beijus no fogão, toucinho, a alva peneira de tapioca, alfazema. Apesar do vento que a baía soprava com os seus bofes fundos, estava calor, o baile suado, um vapor no saião. Andando, Dolorosa atirava as duas tranças para que o papagaio se dependurasse. Veio o tio Sebastião.
281 Chocolate, Dolorosa.
O tio puxou-a, ficaram conversando, meio misterioso. Alfredo queria ouvir, quis fugir, teve um medo, por dentro a vergonha, estava inteiro naquela conversação? Mas Dolorosa resumia-se a ouvir, o ar benevolente, cerrava as pestanas sobre o aprendiz que afastou corrido, ou tocado de um desejo de saltar n’água, apanhar aquele pássaro no vôo. Muitas coisas sentia como se estivesse ainda dentro do ovo, o olho aberto, olhando do fundo, sem poder pular da casca. Dolorosa e o tio caminhavam para o baile. Os músicos atacaram a quadrilha do dia raiando. Alfredo seguiu. Sempre o cheiro de parto, de criancinha verde, e da mulher lá fora que lhe deu o dia. A filha do seu Almerindo borrifava o chão do baile. A mãe parida ainda dormia? Berrou a cabra. Um rato! alguém gritou, saindo de cima dum feixe de varas. Alfredo não se fiava: rato ou surucucu?
— Surucucu nesta hora dorme, meu sobrinho, afiançou o tio Sebastião, como se tivesse acabado de visitar as cobras nas suas moradias. Aqui observou Alfredo: engraçado, esses dois tios, um era do mato, outro da água. O clarinete repenicava. Dolorosa seguia a marcação da quadrilha, muito atenciosa, era a mesma da noite? E foi parar a música, o seu Almerindo fechou a roda e do meio falou que a senhora parturiente ia ser levada até a beira do rio, ai embarcada, a recolher-se à residência de um compadre. conforme o seu destino, até que chegasse o seu esposo de Belém. Tio Antônio, sem explicar quem era a senhora nem o esposo, ao sobrinho adiantou, confidente: a residência era uma palhocinha um pouco abaixo de Santana, soalho de taboca, na maré só ficava de fora um degrauzinho da escadinha. Por baixo das tabocas, os peixes espiavam o quartinho onde a lamparina de azeite mal alumiava, mal deixava ver a folha de jornal grudada nas palhas e aquele Santo Ivo, só a cabeça da imagem, pesando no oratório de miriti.
E no ombro dos festeiros veio a rede azulada, de varandas brancas, que trazia a mãe, a criança no colo da Prisca, o São Sebastião no braço do seu Almerindo com o 282 papa|gaio-coleira no ombro, as rosas a serem postas na proa da embarcação, o pé de açucena, a panela de barro em que ia a canja, a procissão atrás. Subiram os foguetes. A um aceno do Diretor da Irmandade, a orquestra tocou a marcha da despedida. Alfredo olhou para Dolorosa que chorava, então se pôs no lado da sua dama e foi bom que ela pusesse a mão dele na cintura. Nos olhos molhados da criatura... que podia adivinhar? Carregada na rede, levada pelo São Sebastião, seguia a oculta rainha, o filho no colo da d. Prisca. diante dos olhos de Dolorosa. E o Alfredo soltou-se — agora sim, ia saber — correu e olhou na rede, não via senão o véu, o rosto desfeito, quieta, dormia ou ia feliz? Quem tu és? quase gritou, seguro agora pelo tio, já na mão da Dolorosa, esta a acariciar-lhe o cabelo. E foi então que a rede no ombro dos homens parou, esperando que os da catraia montassem a panacarica para cobrir mãe e. filho durante a viagem, Alguém atirou um travesseiro. As. rosas um feixe na proa e no banco o pé da açucena. O remeiro apanhou a panela de barro. Seu Almerindo ergueu o São Sebastião, as muitas fitas ao vento.
D. Prisca entregou o verdinho a uma cabocla de rosto imponente de quem vai receber um deus.
— São Sebastião de Santana vos de uma boa viagem boa viagem, um especial resguardo. Que o menino se livre da resfriardade do tempo. Do vosso ventre o fruto é bendito. Foi para nós uma alta merecendência. Que esse seu primeiro menino na boa fortuna se crie e de todo o bem se enriqueça, são as nossas preces, os nossos votos, os nossos presságios, a Irmandade formula... Não te falte o leite do peito, meu bem nascido, no sumo de tua mãe te agarra, que tua mãe é de boa ubre. De tudo isso fica a saudável natural rescordância. E que o Senhor Deus sopre no teu nariz, curumim, o folgo da vida, como reza na Escritura.
Todos em silêncio escutaram, mãe e filho levados, sob o guarda-sol à embarcação; franziu-se a água às primeiras remadas, o sol deu bem no rosto da Dolorosa que olhava longe, as pestanas luzindo como as asas dum inseto. No 283 rumor dos remos, foguetes, vozes, clarinete, palavras do seu Almerindo, o berrar da cabra, Alfredo escutou: cessava lá fora o tempo na bala. E de toda aquela iluminação da ilha viajando na meia-noite sobrava esta manhã desfeita no rio, nas palmeiras, no véu da misteriosa mão, nos olhos da Dolorosa.
Tio Antônio e tio Sebastião iniciavam as suas despedidas também, um tal de cumprimentos, o pelo sinal no oratório, o óbolo para a Irmandade, o apertar mão a mão, o muito adeus, desculpe a má palavra, alguma brincadeira, não foi por gosto, não leve em conta o mal agrado, que Alfredo se admirava de tanta diplomacia e isso era bom. Seu Almerindo, quase confidente, lhe deu o seu abraço:
— Os seus tios puxam uma cortesia fina. Debaixo daquela cor, é aquela alvura. Debaixo daquele couro cru é aquela seda. Veja neles o seu mais fino espelho do melhor cristal. São Sebastião de Santana te acompanhe. Te acompanhe e sempre bom vento sopre nas velas do teu tio. Que a Nossa Senhora da Boa Viagem vá a bordo.
Só lhe doía o mistério debaixo do véu, sim, mas tudo não foi o fim de uma idade? Longe daquela matança em Belém, um inocente, debaixo das palhas bem pobres, ia ter leite, ou açaí, ia ter mel, ou peixe, salvo-salvo? Dolorosa não acabava de chocar o pinto, tirando o rapaz dó ovo? Vamos suspender ferro, embarcar boi do branco, explicava o tio Antônio agora com a voz do leme. No meio das três o tio Sebastião solava no pinho o seu adeus até um dia. Adornando o queixo da magra, entre as duas que escutavam, o jugular do quepe ficava de lembrança. Já a maré bulia as folhas do aningal e dela embebeu-se a mata agora um limo gordo escorrendo sol e silêncio. O «Santo Afonso» suspendia ferro, ia subir, levanta o pano. Santana inteira, desde o São Sebastião até a cabra berrando, dava adeus. Seu Almerindo, o caçulinha ao colo, no ombro o papagaio, acenava; se mais falou, no barco já não se ouvia. E em Alfredo, debruçado na borda, no rio de alfazema, limo e sono, devagarzinho lhe veio dando uma saudade. Deixava 284 ali os sobejos do menino? Enterrou naquele chão e em Dolorosa o derradeiro caroço de tucumã?
— Adeus, três donzelas! era o tio ao pé da bijarruna.
«Enterrei mesmo em Santana, na pedra, todos os carocinhos?
Tôdolos. Tôdolos. Tôdolos.
Como dizia o pai. Tôdolos?
Dalcídio Jurandir
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















