PÁTRIA / Guerra Junqueiro
PÁTRIA / Guerra Junqueiro
#
#
#
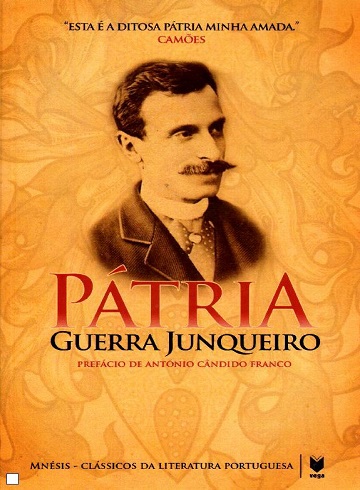
#
#
#
CENA I CIGANUS (apontando o pergaminho e rindo) Necrológio a assinar pelo defunto!
MAGNUS (com gravidade) É urgente: Salvamo-nos...
OPÍPARUS (acendendo um charuto)
Perdendo a honra... felizmente! Inda bem! inda bem! vai-se a ária das Quinas...
MAGNUS (convicto) Glorioso pendão sobre um castelo em ruínas...
OPÍPARUS O pendão! o pendão!... um trapo bicolor, A que hoje o mundo limpa o nariz... por favor.
CIGANUS Enquanto a mim, que levem tudo, o reino em massa, Pouco importa; o demônio é que o levem de graça. Mas agora acabou-se!... e, em lugar de protesto, Vejamos antes se o ladrão nos compra o resto... Um bom negócio... hein?!... manobrado com arte...
OPÍPARUS (soprando o fumo do charuto: Dou por cem libras, quem na quer? a minha parte...
MAGNUS (grandioso) Quando d'ânimo leve o príncipe assim fala, Não se queixem depois que a dinamite estala, Nem se admirem de ver o país qualquer dia Na mais desenfreada e tremenda anarquia! Prudência! haja prudência, ao menos, meus senhores... É grave a ocasião... gravíssima!... Rumores De medonha tormenta andam no ar... Cuidado! Não desânimo, é certo... Um povo que deu brado, Uma nação heroica entre as nações do mundo, Há de viver... É longo o horizonte e é fecundo!... Creio ainda no meu país, na minha terra!... Guardo a esperança...
OPÍPARUS Bem sei, no Banco de Inglaterra... A esperança e dois milhões em ouro, tudo à ordem... Não é isto?...
MAGNUS (embaraçado) Exagero... exagero... Concordem... Sim, concordem... pouco me resta e pouco valho... Mas o suor duma vida inteira de trabalho... Economias... bagatela... um nada... era mister... No dia d'amanhã, com filhos, com mulher... Entendem, claro está... era preciso, enfim, Segurança... Não me envergonho... Enquanto a mim, Posso falar de cara alta... o meu passado...
OPÍPARUS Se é mesmo a profissão do duque o ser honrado! É o seu modo de vida, o seu ofício... Creio Que é daí... que é daí que a fortuna lhe veio: Ninguém lho nega... O duque é dos bons, é dos puros... E a virtude a render, a dignidade a juros Acumulados... Francamente, eu noto, eu verifico Que era caso de estar muitíssimo mais rico... O duque foi modesto: a honra de espartano Não a deu nem talvez a dois por cento ao ano!
MAGNUS (sorrindo constrangido) Má língua!...
CIGANUS (com seriedade irônica: O nosso duque a ofender-se... que asneira! O príncipe graceja... histórias... brincadeira... À honradez do duque, inteiriça e maciça, Todo o mundo lhe faz a devida justiça... Mas vamos ao que importa, — ao bom pirata inglês...
MAGNUS El-rei assinará?... o que julga, marquês?
OPÍPARUS El-rei nesse tratado é rei como Jesus, E, portanto, vão ver que o assina de cruz.
CIGANUS Sem o ler. Quem dúvida? Assinatura pronta! Paris vale uma missa e Lisboa uma afronta. E, em suma, concordemos nós que um mau reinado, Por um bom pontapé, fica de graça, é dado. A el-rei amanhã nem lhe lembra. Tranquilo, Dormirá, jantará, pesará mais um quilo. Uma boia de enxúndia; um zero folgazão, Bispote português com toucinho alemão.
OPÍPARUS Sensualismo e patranha, indiferença e vaidade, Gabarola balofo e glutão, sem vontade, Às vezes moralista, (acessos de moral, Que lhe passam jantando e não nos fazem mal) Eis el-rei. Um egoísmo obeso, alegre e louro, Unto já de concurso e de medalha d'ouro. Termina a dinastia; e Deus, que a fez tamanha, Põe-lhe um ponto final de oito arrobas de banha... Laus Deo!
MAGNUS Que má língua! El-rei, coitado! uma criança, Nem leve culpa tem nos encargos da herança... Não se aprende num dia a governar um povo... E em casos tais, em tal momento, um homem novo, Habituado à lisonja, habituado ao prazer... Maravilhas ninguém as faz... não pode ser!... El-rei é bom! El-rei é um espírito culto, Ilustrado... Não digo, enfim, que seja um vulto, Um talento, uma coisa grande de espantar; Mostra, porém, cordura, o que não é vulgar...
Cordura e senso... Eu falo e falo com razão... Não minto... sou cortês, nunca fui cortesão! Duque e plebeu... vim do trabalho honrado que mágoa... Não lisonjeio o povo e não adulo a Coroa. Os defeitos del-rei?... Não me custa o dizê-lo: Eu quisera maior interesse... maior zelo... Mais idade, afinal... Deixem correr os anos, E hão de ver o arquétipo exemplar dos soberanos.
OPÍPARUS (sorrindo: Ingênua hipocrisia, duque... Olhe que el-rei Conhece-nos a nós, como nós a el-rei...
CIGANUS Sabem? Dá-me cuidado el-rei... dá-me cuidado... Melancolia... um ar de nojo... um ar de enfado... Sem comer, sem dormir, não repousa um minuto, E é raríssima a vez que ele acende um charuto.
OPÍPARUS Indício bem pior: há já seguramente Três dias que não vai à caça e que não mente. Ora, se el-rei não mente e não fuma e não caça, É que não anda bom, não anda...
MAGNUS Que desgraça! Pudera! hão de afligi-lo, e com toda a razão, As tremendas calamidades da nação. Cada hora um desastre, um infortúnio... Eu cismo, Eu olho... e vejo perto o cairel dum abismo!
OPÍPARUS Oh, nunca abismo algum tolheu el-rei, meu amo De aldravar uma peta ou de caçar um gamo.
CIGANUS E depois o cronista-mor, tonto e velhaco, A insinuar-lhe, a embeber-lhe endrôminas no caco, Telepatias, bruxarias, judiarias Do Livro das Visões, Sonhos e Profecias. O que vale é que el-rei, um gordo hereditário, Pesa demais para profeta ou visionário. Não me assusta...
MAGNUS (confidencial) Marquês... dum amigo a um amigo! Entre nós... fale franco: a ordem corre perigo?... O mal-estar... desassossego... uma aventura... Os quartéis... Diga lá: julga a Coroa segura?...
CIGANUS Segura e bem segura. Equivocar-me hei, No entretanto, parada feita: jogo ao rei! Neste lance... No outro... A inspiração é vária, E bem posso mudar para a carta contrária.
OPÍPARUS De maneira que apenas eu, sublime idiota, Guardo fidelidade ao rei nesta batota! Alapardou-se em mim o dever e a virtude! Quando o trono de Afonso Henriques se desgrude, Eu cá vou com el-rei... Isto da pátria e lar É boa fêmea, bom humor e bom jantar, O ditoso torrão da pátria!... que imbecis! No globo não há mais que uma pátria: Paris. A nossa então, que choldra! Infecta mercearia, Guimarães, Policarpo, Antunes, Braga & Cia! Um horror! um horror! Não temam que proteste, Se emigrando me vejo livre de tal peste. Fico por lá... não torno mais... fico de vez... O que é preciso é bago... Ora, você, marquês, Adorável canalha e salteador galante, Não me deixa embarcar el-rei como um tunante, El-rei que vai viver por cortes estrangeiras, Sem duas dúzias de milhões nas algibeiras... Eu sou trinchante-mor, e conservo o lugar, Havendo, claro está, faisões para trinchar!...
MAGNUS (imponente) Incrível! No momento grave em que a Nação Dorme (ou finge dormir!) à beira dum vulcão, Nesta hora tremenda, hora talvez fatal, Há quem graceje como em pleno carnaval! E assim vamos alegremente, que loucura! Cavando a todo o instante a própria sepultura... No dia d'amanhã ninguém pensa, ninguém! Os resultados vê-los hão... caminham bem... Divertem-se com fogo... Olhem que o fogo arde... E extingui-lo depois (creiam-me) será tarde... Já não é tempo... As lavaredas da fogueira Abrasarão conosco a sociedade inteira! A mim o que me indigna e ruborisa as faces É ver o exemplo mau partir das altas classes, Sem se lembrarem (doida e miserável gente!) Que as vítimas seremos nós... infelizmente! Não abalemos, galhofando, assim à toa, A égide do cetro, o prestígio da Coroa! Quando a desordem tudo infama e tudo ameaça, A Realeza é um penhor...
CIGANUS Destinado a ir à praça. Questão d'anos, questão de mês ou questão d'hora, Segundo ronde a ventania lá por fora... Observemos o tempo... anda brusco, indeciso... Não arme o diabo algum ciclone d'improviso!... O trono, defendê-lo enquanto nos convenha; Depois... trono sem pés já não é trono, é lenha. Queima-se; e no braseiro alegre a chamejar Cozinhamos os dois, meu duque, um bom jantar!...
O duque a horrorizar-se!... Eu conspiro em segredo... Pode ouvir, pode ouvir... duque, não tenha medo! A república infame, a república atroz, Uma bela manhã será feita por nós, Meu caro duque!... E o presidente... Ora quem... ora quem, duque de S. Vicente?!... O duque! Não há outro, escusado é lembrar!... Um prestígio europeu... a independência... o ar... Não há outro!... d'arromba!... à verdadeira altura!... Todas as condições, todas... até figura! Parece um rei! que nem já sei como se move Com as trinta grã-cruzes...
MAGNUS (lisonjeado) Upa!... trinta e nove!
CIGANUS Trinta e nove grã-cruzes, ahn! no mesmo peito... Caramba, duque!... é bem bonito... é de respeito! E o povo gosta, deixe lá... De mais a mais Duque e plebeu...
MAGNUS (com dignidade: Não me envergonho de meus pais! Filho dum alfaiate... Honra-me a origem!...
CIGANUS Sei... E nobreza tão nobreza é que a não dá el-rei. Nobreza d'alma! Enfim, meu duque, nem pintado Se encontraria igual para chefe do Estado! Queira ou não queira, pois, o meu ilustre amigo...
MAGNUS (solene) Eu lhe digo, marquês... eu lhe digo... eu lhe digo... Devagar... devagar... Um problema importante, Que exige reflexão, maturação bastante...
Sou monárquico... Fui-o sempre!... Inda hoje creio O trono liberal o mais sólido esteio Do Progresso e da Paz e a melhor garantia Da justa, verdadeira e sã Democracia. Não precisamos outras leis... Há leis à farta! Executem-nas!... Basta executar a Carta! Cumpram as leis!... Dentro da Carta, realmente, Cabem inda à vontade o futuro e o presente... É este o meu critério... e já agora não mudo!... Honrosas convicções, filhas dalgum estudo E muitas brancas... Mas, enfim, se as loucuras alheias... Desvairamentos... circunstâncias europeias... Derem de si em conclusão regime novo, Acatarei submisso os ditames do Povo! Monárquico e leal... no entretanto, marquês, Antes de tudo, sou e serei português!! Ao bem da Pátria em caso urgente, em horas críticas Não duvido imolar opiniões políticas! Darei a vida até, quando preciso for!!
CIGANUS El-rei que chega...
MAGNUS (curvando-se) Meu Senhor!
CIGANUS Meu Senhor!
OPÍPARUS Meu Senhor!
CENA II Os mesmos e o rei.
(Os três cães acodem festivos ao monarca)
O REI (sombrio e melancólico, repelindo os cães) Que noite!
CIGANUS Vendaval furioso!
OPÍPARUS Noite rara Para uma ceia de champanhe e mulher cara...
O REI Faz-me nervoso a noite...
MAGNUS É da atmosfera espessa... Elétrica... Atordoa e desvaira a cabeça...
O REI (apontando o pergaminho) O tratado?
CIGANUS O tratado.
MAGNUS Um pouco duro... El-rei...
O REI (indiferente) Seja o que for... seja o que for... assinarei... (Vai ao balcão, ficando abstrato, a olhar a noite).
MAGNUS Não há dúvida; el-rei anda enfermo... é evidente...
OPÍPARUS Galhofeiro, jovial, bom humor permanente, Cético, dando ao demo as paixões e a tristeza, Caçador, toureador, conviva heroico à mesa... Pobre do rei... quem o diria!... que mudança! Oxalá que a loucura, a vir, lhe venha mansa...
CIGANUS O ratão do cronista é que o tem posto assim, Com mistérios em grego e aranzéis em latim... Trovão formidável.
O REI (voltando do balcão) Que noite!
MAGNUS Uma trovoada enorme!... Causa horror!...
(Ciganus desdobra o pergaminho e vai ler o tratado).
O REI Leitura inútil... Deixa lá... Seja o que for... Seja o que for... adeus!... assinarei...
CIGANUS Perfeito. Não há balas? Resignação; não há direito. Se entra no Tejo de surpresa um couraçado, Quem vai metê-lo ao fundo, quem? A nau do Estado Com bispos, generais, bacharéis, amanuenses, Pianos, pulgas, mangas d'alpaca e mais pertences? A esquadra? vai a esquadra real, um meio cento De alcatruzes, bides e banheiras d'assento? Sacrificar a vida à honra? Acho coragem, Mas a honra sem vida é de pouca vantagem; Não se goza, não vale a pena. A vida é boa... Defendamos a vida... e salvemos a Coroa.
MAGNUS (eloquente) E salvemos a Coroa! A vida eu dá-la-ia Pela honra da Pátria e pela Monarquia! Somos filhos de heróis! mas nesta conjuntura A resistência é um crime grave, uma loucura! Um país decadente, isolado na Europa, Sem recursos alguns, sem marinha e sem tropa, Tendo no flanco, alerta, o velho leão de Espanha, Arrojar doidamente a luva à Grã-Bretanha, Oh, pelo amor de Deus! digam-me lá quem há de Assumir uma tal responsabilidade?!!... A pátria de Albuquerque, a pátria de Camões Abolida era enfim do mapa das nações! Guardemos nobremente uma atitude calma! Recolhamos a dor ao íntimo da alma, E o castigo do insulto, o prazer da vingança A nossos netos o leguemos, como herança! Que Deus há de punir (é justiceiro e é bom) A moderna Cartago, a triunfante Albion! Saiba, porém, El-rei que o brio português O defendemos nós ante o leopardo inglês, À força de critério e sisuda energia, No campo do direito e da diplomacia! Com as Instituições por norte e por escudo, Fizemos tudo quanto era possível! — tudo!!
OPÍPARUS (ao rei, galhofando) Quer o duque dizer que ambiciona o colar Do Elefante Vermelho e do Pavão Solar...
MAGNUS (com indignação e nobreza: Não requeiro mercê tão grandiosa e tão alta, Conquanto seja ela a que ainda me falta. O Elefante e o Pavão! Um colar e uma cruz A que somente os reis e os príncipes têm jus! Não ouso... Mas, se um dia a grã munificência Da Coroa houver por bem, (florão duma existência!)
Conceder-ma!... Que, deixem-mo explicar: eu, medalhas e fitas, Não é por ser vaidoso ou por serem bonitas, Que as ostento... Plebeu nasci, de bom quilate... Não o escondo a ninguém: meu pai era alfaiate. Ora, num peito humilde e franco uma medalha, Como que atesta e diz ao homem que trabalha, Ao povo que moureja em seu ofício duro, Que hoje na monarquia é dado ao mais obscuro Guindar-se à posição mais alta e mais egrégia, Por direito, — que é nosso! e por mercê, — que é régia! Escritura de luz que em vivo amplexo abarca O Povo e a Soberania augusta do Monarca!
CIGANUS Meu caro duque, muito bem... Vamos agora, Resolvida a questão, assinar sem demora O pergaminho...
O REI Assinarei... Deixem ficar.
CIGANUS E enquanto às convulsões do leão popular, Como diria o nobre duque, afoitamente Respondo pelo bicho: um cão ladrando à gente: Dobrei guardas, minei as pontes à cautela, E fica a artilharia em volta à cidadela. Não há perigo nenhum. Durma El-rei sem temor. Boa noite, Senhor...
MAGNUS (curvando-se até ao chão) Meu Senhor!
OPÍPARUS Meu Senhor... Saem os três.
MAGNUS (vai pensando: Ora, se o filho do alfaiate qualquer dia Inaugurava ainda a quinta dinastia!... Eu sentado no trono!... Eu rei de Portugal!!... Que, rei ou presidente, enfim é tudo igual... Muita finura agora e muita vigilância, Observando e aguardando as coisas a distância!... Magnus! lume no olho e não te prejudiques... Eu suceder, caramba! a D. Afonso Henriques!!...
CENA III O rei, só.
O temporal aumenta. Relâmpagos e trovões.
O REI Não me lembra de ver uma tormenta assim!... Que demônio de noite!... Ando fora de mim, Desvairado... Um veneno oculto me afogueia, Que há três dias que trago uma cabeça alheia Nestes ombros... Que inferno!... É esquisito... é esquisito!... Foi beberagem má... droga horrenda... acredito! Uns vagados de louco, um frenesi medonho... Sonharei, porventura, e será tudo um sonho?!... Acordado ando eu, acordado a valer, Que há três noites não pude ainda adormecer!... Peçonha?... não!... A causa disto... a causa é o doido O raio do fantasma, esse maldito doido Que me persegue!... tenho medo... e vergonha em dizê-lo!... E depois o cronista-mor, um pesadelo Ambulante, um maluco agoureiro e cismático, Com aquelas visões estranhas de lunático, Faz-me mal... faz-me mal... Que o leve o diabo... O certo É que há dentro de mim desarranjo encoberto...
Uma insônia danada... um nervoso... um fastio... Misantropia tal que não bebo, nem rio, Nem de touros me lembro enfim, nem de ir à caça! Mau sangue... Árvore má... Podre... podre... É de raça!...
UMA VOZ TRÁGICA(na escuridão) Ai, na batalha destroçado, Ai, na batalha destroçado, Rota a armadura, ensanguentado, Debaixo duma árvore funesta Fui-me deitar, fui-me deitar... dormir a sesta... Fui-me deitar... dormi... dormi... Endoideci, enlouqueci Debaixo duma árvore funesta!...
(Uivam os cães, espavoridos e furiosos).
O REI O doido! o doido! o doido!... Há três noites a fio Que este velho alienado, horroroso e sombrio, À volta do palácio, ave negra d'azar, Anda a cantar!... anda a cantar!... anda a cantar!... (Indo ao balcão) Ei-lo! (Ao clarão dum relâmpago, destaca-se, de súbito, fronteiro ao castelo o vulto trágico do doido. Um gigante. Roto, cadavérico, longa barba esquálida, olhos profundos de alucinado, agitando no ar um bordão em círculos de agouro, cabalísticos. O manto esvoaça-lhe tumultuoso, restos duma bandeira velha ou dum sudário) Morro de medo!... Há não sei que de extravagante, De inquietador, na voz, nas feições, no semblante Deste doido... Será um doido porventura?... Mal a sua voz acorda, rouca, a noite escura, Logo os cães a ladrar, a ladrar e a gemer, Como se entrasse a morte aqui sem eu a ver!... Que raio de fantasma!... É coisa de bruxedo...
Não ando em mim... não ando bom, tremo de medo... Esquisito!... (Sentando-se ao fogão) Ora adeus! É do tempo... é da lua... Nervoso... Passa... Mas, se o diabo continua Com as trovas de agouro, eu forneço-lhe o mote, Mandando-o escorraçar a cacete e a chicote. (Vendo o pergaminho sobre a mesa) O tratado... Uma léria... Enfastia-me já... Mais preto menos preto, a mim que se me dá?! Por via agora duma horrenda pretalhada Mil barafundas e alvorotos... Que maçada! Que maçada!... Fazem-me doido, não resisto... (Desenrolando o pergaminho) É assiná-lo, e pronto! acabemos com isto! (Lendo alto) "Eu, rei de Portugal, súbdito inglês, declaro Que à nobre imperatriz das Índias e ao preclaro Lord Salisburi entrego os restos duma herança Que dum povo ficou à casa de Bragança, Dando-me, em volta, a mim e ao príncipe da Beira A desonra, a abjeção, o trono... e a Jarreteira." Cáspite! um pouco forte... Ora adeus!... uma história... Chalaças... Devo a coroa à rainha Vitória!
O DOIDO (na escuridão) Tive castelos, fortalezas pelo mundo... Não tenho casa, não tenho pão!... Tive navios... milhões de frotas... Mar profundo, Onde é que estão?... onde é que estão?!... Tive uma espada... Ah, como um raio, ardia, ardia Na minha mão!... Quem ma levou? quem ma trocou, quando eu dormia, Por um bordão?!... E tive um nome... um nome grande... e clamo e clamo, Que expiação! A perguntar, a perguntar como me chamo!...
Como me chamo? Como me chamo?... Ai! não me lembro!... perdi o nome na escuridão!...
O REI (desvairado, erguendo-se) O doido!... Aquela voz de fantasma titânico Gela-me o sangue e petrifica-me de pânico! Por quê?... Ignoro... O mesmo instinto singular, Que faz ladrar os cães, mal o ouvem cantar... Parece-me um algoz, um carrasco sangrento D'além campa, a marchar no escuro a passo lento, Direito a mim!... Lá vem!... lá vem vindo... não tarda!... Quem me defende?... a minha corte? a minha guarda? A minha guarda!... a minha corte!... Ah, bons amigos, Como hei de crer em saltimbancos e em mendigos, (Sentando-se ao fogão, junto dos cães) Se nem mesmo nos cães tenho confiança já!... (Os três cães, agachando-se-lhe aos pés, acariciam-no e lambem-no)
O REI (enxotando Iago bruscamente) Iago... Iago!... Então... basta de festas, vá!... Safado! cachorro imundo!... Olhem o odre De gordura, já meio leso e meio podre! Biltre! À força de comezainas e de enchentes Emprenhou-te a barriga e caíram-te os dentes! As unhas foi meu pai quem tas cortou de vez... Já nem és cão... és porco; e inda em porco és má rês! E lembrar-me eu de o ver, canzarrão duro e bruto, O ventre magro, o olhar em sangue, o pelo hirsuto, Capaz de trincar ferro e mastigar cascalho!... E ei-lo agora: poltrão! ventrudo-mor! bandalho! (Iago redobra de festas. O rei dá-lhe um pontapé) O bandalho! o bandalho!... E este Judas esperto, Este Judas, filho de loba e cão incerto!... Um chacal remeloso e sarnento e pelado, Todo corcunda, esguio e vesgo, a olhar de lado!... E acredita, o pandilha sorna, o safardana,
Sempre a beijar-me os pés, sempre a tossir de esgana, Que me ilude!... Cachorro!... Ora diz lá, meu traste: Por quanto hás de vender El-rei? já calculaste?... E um Veneno, que é tão pequeno e que é tão mau! Fraldiqueiro e feroz, pulgasita e lacrau! Com ganas de trincar a humanidade inteira, Vai trincando pastéis e barrigas de freira... (Erguendo-se) E são três cães, três cães! Iago, Judas, Veneno, Um odre imundo, um chacal torto e um rato obsceno, O meu amparo! Que vergonha!... Ao que eu cheguei!... Três podengos de esquina a tutelar um rei! Mas, que demônio! sou injusto... a verdade, a verdade É que guardam o prédio e fazem-me a vontade... Por amor à ração e não amor ao dono? Inda bem.... inda bem... tem de salvar o trono, Se quiserem jantar... perdida a monarquia, Adeus o regabofe e adeus a conesia! Por isso estão, como dragões, de sentinela Junto do rei, junto da copa e da gamela. Defendem-me. E eu ainda os insulto!... coitados! Mandriões e glutões, gostam de bons bocados... Também eu... Por que os hei de, afinal, descompor? É da bílis, da inquietação, do mau humor Em que eu ando... Nem sei... que demônio! foi praga... Raios partam o doido e essa abantesma aziaga Do cronista!... Não há que ver, fazem-me tonto!... (Vendo o pergaminho) Mais esta geringonça inda por cima! (Indo a assinar) Pronto!
O DOIDO (na escuridão) Ai, a minh'alma anda perdida, anda perdida Ou pela terra, ou pelo ar ou pelo mar... Ai não sei dela... ai não sei dela... anda perdida, E eu há mil anos correndo o mundo sem na encontrar!...
Pergunto às ondas, dizem-me as ondas: — Pergunta ao luar... — E a lua triste, branca e gelada, Não me diz nada... não me diz nada... Põe-se a chorar! Pergunto aos lobos, pergunto aos ninhos, E nem as feras, nem os passarinhos Me dizem onde habita, em que lugar!... Sangram-me os pés das fragas dos caminhos... Não tenho alma, não tenho pátria, não tenho lar!... Ai, quanta vez! ai, quanta vez! Não passará talvez A minh'alma por mim sem me falar! Quem reconhece o cavaleiro antigo Neste mendigo Roto e doido... quem há de adivinhar?!... Adivinhava ela... adivinhava!... O cão no escuro, pela serra brava, Não vai direito ao dono a farejar? Adivinhava... É que está presa... é que está presa! Ontem sonhei...(lembro-me agora!) que está presa Naquela bruta fortaleza, Numa cova sem luz, num buraco sem ar, E que os carrascos esta noite, de surpresa, A vão matar! a vão matar! a vão matar!... Por isso o mar anda a rezar!... Por isso a lua desmaiada, Sem dizer nada... sem dizer nada... A olhar p'ra mim, branca de dor, fica a chorar!...
(Ribombam trovões, fuzilam relâmpagos. Os cães, espavoridos, ululam sinistramente)
O REI (alucinado, clamando) É demais! é demais!... Põe-me o caco do avesso!... Um frenesi... Que fúria!... irrita-me... endoideço...
E anda às soltas este ladrão deste espantalho!... Eu já o ensino, já o arranjo... um bom vergalho... Marquês! marquês! marquês!
CENA IV O rei, Opíparus e Ciganus, acudindo.
OPÍPARUS Meu Senhor!...
CIGANUS Meu Senhor!...
O REI (alucinado) Vão-no prender!... vão-no prender!... Um salteador... Tragam-mo aqui aos pés, de rastros, maniatado!... Tragam-no aqui!...
OPÍPARUS (à parte) El-rei endoideceu, coitado!
CIGANUS Meu Senhor! meu Senhor, que indignação!... Dizei, Alguém desacatou a pessoa del-rei, Por acaso?
O REI Um fantasma louco entre o arvoredo...
OPÍPARUS Um fantasma?!... Ilusão... O ar atordoa...
CIGANUS Medo De quê? de agouros infantis, de sonhos vagos?
Com ministros leais e escudeiros bem pagos, Que teme el-rei?!...
O REI Não foi vertigem, não foi sonho... Um brutamontes alienado, um gigante medonho Que me não deixa... Quero vê-lo... Ide prendê-lo... andai...
CIGANUS Mas que fantasma é esse aterrador?
O REI (levando-os ao balcão e apontando) Olhai! Além!... além!... além!...
CIGANUS Estrambótica figura!... É singular... é singular...
OPÍPARUS Crime ou loucura... Por certo um doido...
O REI Há já três noites, sem descanso, Uivando loas sobre loas...
OPÍPARUS Doido manso...
O REI Ide prendê-lo!... amordaçai-o, maniatai-o! Não me larga esta insônia há três noites!... Um raio Dum profeta a grunhir cantochões de defuntos!... Boa carga de pau... bom marmeleiro aos untos... Mas vejam lá que o diabo às vezes, com a telha, Não arme algum chinfrim... Peguem-no de cernelha!
CENA V O rei, inquieto, preocupado, senta-se ao fogão. Os cães abeiram-se, uivando medrosos. Redobra a tormenta. Pestanejam, contínuos, relâmpagos formidáveis.
O DOIDO (no escuro, em voz plangente de embalar crianças) Os vivos têm medo aos mortos, Que andam de noite ao luar... Fantasmas de mortos São enganos mortos... Deixem-nos andar... deixem-nos andar!...
Os vivos têm medo aos mortos, Que andam sonhando a penar... Quimeras de mortos São desejos mortos... Deixem-nos sonhar... deixem-nos sonhar!...
Os vivos têm medo aos mortos, Que andam cantando a chorar... As canções dos mortos São suspiros mortos... Deixem-nos cantar... deixem-nos cantar!...
O REI O doido! o doido! o doido!
A MESMA VOZ (na escuridão) Não lhes tenham medo... deixem-nos cantar...
CENA VI Entram Ciganus e Opíparus acompanhando o fantasma, em meio de escudeiros armados e com archotes. O doido aparece tal qual o descrevemos:
enorme, cadavérico, envolto em farrapos, as longas barbas brancas flutuando. Numa das mãos o bordão. Na outra um velho livro em pedaços. Lembra um doido e um profeta, D. Quixote e o Rei Lear. O olhar, cavo e misterioso, é de sonâmbulo e de vidente. O rei empalidece como um sudário. Os cães ululam, furiosos e trêmulos.
CIGANUS Eis o doido... É curioso este Matusalém... Como se chama? onde nasceu? de onde vem? Ignora tudo... Canta e soluça...
OPÍPARUS De resto, Não tem fúrias, nem anda armado: um doido honesto.
O REI Que estafermo!... que monstro!... Um espião, talvez...
OPÍPARUS Deixou-se maniatar, prender, qual uma rês Submissa... Não, um doido...
CIGANUS Um doido extravagante... Quem és? Despacha a língua... olha que estás diante D'el-rei... Diz o teu nome...
OPÍPARUS O teu nome, vilão!
O DOIDO (absorto) Como me chamo... como me chamo?... Ai! não me lembro... perdi o nome na escuridão...
CIGANUS Sempre a mesma resposta inalterável...
O REI Diz De donde vens? onde nasceste? em que país? Nada temas... El-rei é bom, podes falar...
O DOIDO (sonâmbulo) Não tenho alma... não tenho pátria... não tenho lar...
O REI Traz um livro na mão, reparai...
CIGANUS (tomando o volume, que o doido entrega, pesaroso) Deixa ver... Deixa-mo ver... um livro antigo... Sabes ler? Tu sabes ler?
OPÍPARUS Anda, responde, não te encolhas...
CIGANUS (abrindo o livro: Nem princípio, nem fim; trapos todas as folhas. (Folheando e lendo) Esta é a ditosa pátria minha amada... Alguns traidores houve algumas vezes... Porque essas honras vãs, esse ouro puro Verdadeiro valor não dão... A que novos desastres determinas De levar estes reinos, esta gente?... apagada e vil tristeza...
O REI Parece verso... CIGANUS (restituindo o livro: Um alfarrábio fedorento, Coisa de pregador, talvez... cheira a convento...
CIGANUS Quem sabe se algum velho ermitão alienado, Desses que vivem sós, longe do povoado, Em ermos alcantis ou cavernas de fera...
OPÍPARUS Onde dormes?
O DOIDO Dormir!... dormir!... Oh, quem me dera Dormir!... Oh, quem me dera esta cabeça vaga, Esta cabeça tonta, arrimá-la a uma fraga, E quedar-me p'ra sempre esquecido no chão!... E os mortos dormem... e eu morri... então... então Por que não durmo?!... (Vagueando os olhos esgazeados pelos retratos da dinastia de Bragança, e como que recordando-se gradualmente, em sonho, dum escuro passado, abolido e longínquo) Olha os bandidos... os traidores!... Bem nos conheço!... foram eles... sutilmente (Rosnam os cães, enfurecidos) Com drogas más e com venenos de serpente, Sem eu saber, de noite e dia, a pouco a pouco, Me levaram a alma e me tornaram louco... Enlouqueceram-me, endoidaram-me os bandidos!... A minha alma!... a minha alma!... Ouço gemidos... São talvez dela... tem-na aqui encarcerada... Onde estás, onde estás, alma desamparada?!... Grita por mim!... onde é que estás?!... Ai, quero enfim Ver-te comigo... Onde é que estás?!... (Os cães, truculentos, investem com ele. Resignado e com desprezo): Ah, cães danados... cães del-rei... mordei, mordei Este corpo sem alma!... Ah fosse outrora... outrora!... E ai dos cachorros e do dono!... Assim... agora... Mordei, mordei, ladrai, despedaçai sem perigo A minha carne e os meus andrajos de mendigo!...
CIGANUS Coitado! um noitibó maluco e mansarrão...
OPÍPARUS Delírio de tristeza e de perseguição...
O REI Astrólogus talvez o conheça...
CIGANUS O farsante! Pregador, impostor, mágico, nigromante, Meio raposa e meio coruja...
O REI É tal e qual... perfeito... Mas o demônio do mostrengo tem seu jeito Para enigmas... Quem sabe!... Ide-o chamar... talvez...
CENA VII Opíparus vai em procura do cronista. O doido, sonâmbulo, vagueia em torno do salão, contemplando os retratos. O rei ao lume, junto dos cães, segue-o com os olhos.
CIGANUS (meditando) Bem complicado este cronista!... Quem o fez Teve artes de engendrar singular criatura, Contraditória, ondeante, incerta, ambígua, obscura... Há duas almas no mostrengo: a que arquiteta Quimeras vãs e sonhos vãos, a do poeta Lunático, imbecil, místico, iluminado, Essa deixá-la andar, que me não dá cuidado! Mas a outra, a ambiciosa, a gulosa, a mesquinha, A refalsada, (a verdadeira!) a igual à minha, Essa mais devagar, Saltamontes... cautela!...
Olho nela... olho nela... O rei é tudo, o rei fraco... este cronista Discursa bem... convém não o perder de vista... Inútil. Afinal as duas almas ao cabo Destroem-se uma à outra, é como Deus e o Diabo. E enquanto que ambas a ferver, drogas contrárias, Em mil combinações, imprevistas e várias, Se desagregam, eu, tranquilo e resoluto, Como tenho uma só, imagino e executo. Ah, o cronista ambíguo e magro e macilento Não pasmarei de o ver ainda num convento... Bem capaz de morrer, jejuando, ermitão... A loucura sutil envolve-o... Que trovão! Que relâmpago!... Brada o vento... ulula o mar... E este doido esquisito e singular, a olhar... A olhar... Que leve o demo a noite e a ventania...
O REI (seguindo o doido com os olhos) Pois agora embirrou! não larga a dinastia...
O DOIDO (absorto) Fantasmas de mortos São enganos mortos... Não lhes tenham medo... deixem-nos sonhar...
CENA VIII Entram Opíparus e Astrólogus.
O REI (ao cronista-mor) Conheces porventura Este doido?
ASTRÓLOGUS Conheço.
O REI É doido?
ASTRÓLOGUS Na figura, Na voz, no olhar, em tudo o podeis ler, Senhor.
O REI E como endoideceu?
ASTRÓLOGUS De miséria e de dor.
O REI Há muito?
ASTRÓLOGUS Vai fazer três séculos...
CIGANUS A vista Do espantalho endojou a mioleira ao cronista...
O REI Três séculos!... caramba! então que idade tem? Mil anos?...
ASTRÓLOGUS Quase...
OPÍPARUS Pronto! endoideceu também!
ASTRÓLOGUS A mil não chega ainda; oitocentos...
CIGANUS Coitado! Endoideceu! doido varrido e confirmado!
O REI Gracejas?
ASTRÓLOGUS Não perdi a razão, nem gracejo... Acaso, meu Senhor, não vedes, como eu vejo, Neste gigante, em seu aspecto e seu fadário, O quer que seja de extra-humano e de lendário? Maior que nós, simples mortais, este gigante Foi da glória dum povo o semideus radiante. Cavaleiro e pastor, lavrador e soldado, Seu torrão dilatou, inóspito montado, Numa pátria... E que pátria! a mais formosa e linda Que ondas do mar e luz do luar viram ainda! Campos claros de milho moço e trigo louro, Hortas a rir, vergeis noivando em frutos d'ouro, Trilos de rouxinóis, revoadas de andorinhas, Nos vinhedos pombais, nos montes ermidinhas, Gados nédios, colinas brancas, olorosas, Cheiro de sol, cheiro de mel, cheiro de rosas, Selvas fundas, nevados píncaros, outeiros D'olivais, por nogais frautas de pegureiros, Rios, noras gemendo, azenhas nas levadas, Eiras de sonho, grutas de gênios e de fadas, Riso, abundância, amor, concórdia, juventude, E entre a harmonia virgiliana um povo rude, Um povo montanhês e heroico à beira-mar, Sob a graça de Deus, a cantar e a lavrar! Pátria feita lavrando e batalhando: Aldeias Conchegadinhas sempre ao torreão de ameias. Cada vila um castelo. As cidades defesas Por muralhas, bastiões, barbacãs, fortalezas. E a dar a fé, a dar vigor, a dar o alento, Grimpas de catedrais, zimbórios de convento,
Campanários de igreja humilde, erguendo à luz, Num abraço infinito, os dois braços da cruz! E ele, o herói imortal duma empresa tamanha, Em seu tuguriozinho alegre na montanha Simples vivia, — paz grandiosa, augusta e mansa, Sob o burel o arnês, junto do arado a lança. Ao pálido esplendor do ocaso na arribana, Di-lo-íeis, sentado à porta da choupana, Ermitão misterioso, extático vidente, Olhos no mar, a olhar sonambolicamente... —"Águas sem fim! ondas sem fim!... Que mundos novos De estranhas plantas e animais, de estranhos povos, Ilhas verdes além... para além dessa bruma, Diademadas de aurora, embaladas de espuma!... Oh, quem fora, através de ventos e procelas, Numa barca ligeira, ao vento abrindo as velas, A demandar as ilhas d'ouro fulgurantes, Onde sonham anões, onde vivem gigantes, Onde há topázios e esmeraldas a granel, Noites de Olimpo e beijos d'âmbar e de mel!" E cismava e cismava... As nuvens eram frotas Navegando em silêncio a paragens ignotas... —"Ir com elas... fugir... fugir!..."— Uma manhã, Louco, machado em punho, a golpes de titã Abateu impiedoso o roble Familiar, Há mil anos guardando o colmo do seu lar. Fez do tronco num dia uma barca veleira, Um anjo à proa, a cruz de Cristo na bandeira... Manhã d'heróis... levantou ferro... e, visionário, Sobre as águas de Deus foi cumprir seu fadário. Multidões acudindo ululavam de espanto. Velhos de barbas centenárias, rosto em pranto, Braços hirtos de dor, chamavam-no... Jamais! Não voltaria mais!... oh, jamais... nunca mais!... E a barquinha, galgando a vastidão imensa, Ia como encantada e levada suspensa Para a quimera astral, a músicas de Orfeus...
O seu rumo era a luz, seu piloto era Deus! Anos depois volvia à mesma praia enfim Uma galera d'ouro e ébano e marfim, Atulhando, a estourar, o profundo porão Diamantes de Golconda e rubins de Ceilão. Náiades e tritões e ninfas, ao de leve, Moviam-na a cantar sobre espáduas de neve. No estandarte uma cruz esquartelando a esfera; E Vênus, voluptuosa, à proa da galera
Com o anjo cristão, virgem risonha e nua, A mamar alvorada em seus peitos de lua!... O argonauta imortal, quimérico gigante, Voltava dos confins da epopeia radiante, Extasiados ainda os olhos vagabundos D'astros de novos céus, floras de novos mundos!
Epopeia inaudita! Herói, ele a viveu, Sonhador, a cantou: Ésquilo e Prometeu! Inda em hinos de bronze, em estrofes marmóreas Vibra eterno o clangor dessas passadas glórias... Mas a glória entontece e mata... Deslumbrado, Trocou por armas d'ouro as armas de soldado, Vestiu veludo e seda e lhamas rutilantes, Estrelou de rubins, aljôfares, diamantes Sua espada de corte e seu gibão de gala, E, em vez do catre duro e pão negro de rala, As molezas do Oriente e as orgias faustosas, Com baixelas d'Olimpo e emanações de rosas... Perdida a antiga fé, morta a virtude antiga, Seu ânimo d'herói, caldeado na fadiga De mil empresas, mil combates de titãs, Domaram-no por fim braços de cortesãs. Com o ferro vencera o ouro; em desagravo, O ouro, que é mau, venceu-o a ele, tornando-o escravo. Ingrato abandonara o teto paternal, Em cuja mesa à ceia aldeã, herói frugal,
Eram de sua estreme e rústica lavoura O pão moreno, o vinho claro e a fruta loira. Deixou morrer o armento; e campos e vinhedos Cobriram-se de tojo, urtigas e silvedos. Em seus castelos e palácios rendilhados, Sobre leitos de arminho e veludo e brocados, Entre beijos de harém e pompas de rajá, Desfalecera o velho herói, caduco já. Mas era bravo ainda, e por vezes nas veias, Acordava-lhe o sangue, alvorando epopeias... Num ímpeto de febre, aceso, arrebatado Na visão deslumbrante e fulva do passado, Ergueu-se um dia, louco e triste, alma quimérica, Olhos em brasa a arder na face cadavérica... Aparelhou galeões, velas brancas arfantes, Cavaleiros aos mil, juvenis e brilhantes, Galopando a cantar, descuidados e ledos Lanças na mão, a pluma ao vento, anéis nos dedos, Cada boca uma flor, cada arma um tesouro, Rodelas d'ouro, arneses d'ouro, espadas d'ouro, Pedrarias astrais em cetins e em veludos, Drapejar de pendões, revérberos de escudos, E as trombetas varando o céu leve de anil Com o estridente clangor do seu furor febril! E, olhos em brasa a arder na face cadavérica, Lá partiu, lá partiu, alma errante e quimérica, À epopeia da glória, ao sonho aventureiro, Ao sonho lindo... oh, sonho triste o derradeiro!... Num mar d'areia, fogo em pó turbilhonando, Sob o vitríolo da luz redardejando, Entre as carnagens do combate desvairado, Já trucidado, espostejado, aniquilado Seu exército louco, — oh sonho louco e vão! — O calmo herói, noite no olhar, gládio na mão, Negro de fumo e pó, rubro de chama e sangue, Os ilhais estourando ao seu corcel exangue, Arrojou-se, como um destino, ereto e forte,
À sangrenta hecatombe, à paz de Deus, à morte! E a morte não no quis: exânime e desfeito, De lançadas crivado o arnez, crivado o peito, Sob o corcel tombou, por milagre inda vivo! Levaram-no depois sem acordo e cativo. Meio século preso e débil... De repente, Num assomo de fúria e de cólera ardente, Partiu grilhões, abriu o ergástulo fatal E voltou livre, livre! ao seu torrão natal!... Mas então, oh tristeza, oh desonra, oh desgraça! Feras do mesmo sangue, homens da mesma raça Envenenaram-no!...
(Iago atira-se furioso ao cronista).
O REI (dando-lhe um pontapé: Silêncio! deixa ouvir... Tem cada uma este cronista!... Iago não obedece. Outro pontapé. Deixa ouvir! E quem foi?... e quem foi?... Rosnam os cães, fuzilando os olhos ao cronista.
ASTRÓLOGUS(embaraçado e perplexo) Quem foi?... Mistério obscuro... enigma que se esconde... Já li sobre isso, não sei quando, nem sei onde, Uma lenda qualquer...
(Os cães enfurecem-se).
O REI Iago! Judas!... caluda!
ASTRÓLOGUS Mas nesse ponto, meu Senhor, a história... (Os cães ameaçam, desvairados)
é muda!... Envenenaram-no, eis o fato, eis a verdade. E às escuras, extinta a imortal claridade, Louco autômato errante, alma cega e funérea, Veio andando através do tempo e da miséria, Mendigo como um cão e mártir como um Cristo, Até chegar, meu Deus, vergonha eterna! a isto!!... Vede-o bem, vede-o bem, o rude herói d’outrora: Teve o mundo nas mãos, nos olhos d'águia a aurora. E hoje, oh destino atroz! sem amparo e sem lar, Tem andrajos no corpo e escuridões no olhar!... Não no mandeis prender, eu vo-lo peço e requeiro! É inofensivo... é manso e bom como um cordeiro... Causam-vos medo, porventura, umas baladas Que anda à noite a cantar, canções d'almas penadas?... É a doidice, hórrida e má, que tumultua Ou nas voltas do tempo ou nas fases da lua... Não afronta ninguém... Deixem-no ir, coitado! Deixem-no com seu mal e seu negro cuidado, A trovar pelo escuro e a viver pelos montes De luz do sol, d'erva do campo e água das fontes... Trás um livro na mão, reparai bem, Senhor: Um livro usado, um livro gasto e sem valor... Sem valor?!... Um tesouro, uma história de encanto, Que ele escreveu com sangue e hoje rega com pranto... Não a larga da mão, anda-lhe tão afeito, Que até dorme com ela escondida no peito... Mas que miséria a sua e que destino o seu! Quer ler... e não soletra o livro que escreveu! Muitas vezes de tarde encontro-o a meditar Sobre rocha escarpada e nua à beira-mar... Pega no livro então, abre-o sofregamente, E fica olhando, olhando, atônito e demente, A epopeia d’outrora, a bíblia do passado, Que lágrimas de fogo em séculos tem queimado...
Mas ai! que serve olhar, se os olhos são janelas, E se a alma é quem vê, quem espreita por elas!... Fica a olhar... fica a olhar, hesitante e perplexo, Balbucia, articula umas coisas sem nexo, E, por fim, taciturno e torvo, aniquilado, Como quem vislumbreia, horror! o seu estado, Fita as nuvens do azul... fita as ondas do mar... E desata, em silêncio, a chorar!... a chorar!... E depois vem a noite... e ali dorme ao relento, Desamparado, abandonado, ao frio, ao vento, Até que algum pescador, de manhã, pela mão O recolha ao seu lar e lhe dê do seu pão!...
CIGANUS Bem o dizia eu... bem o dizia eu... Este cronista não regula... endoideceu! Que histórias que ele inventa, o mágico!...
OPÍPARUS Perlendas De visionário tonto, inquiridor de lendas... Vagueiam-lhe no caco obscuro, entre miasmas, Lêmures, avejões, duendes, monstros, fantasmas...
CIGANUS E no entanto calcula e discorre direito, Se lhe cheira a questão de ganância ou proveito...
O REI Tantas magicações, tanto grego e latim Turvaram-lhe a razão, deram com ele assim. Pobre cronista! anda na lua... As trapalhadas, As pandangas que ele arquiteta!... E bem armadas! Bem armadas!... com certo dedo... Francamente, Às vezes o ladrão quase embarrila a gente! Põe-se-me a fantasiar uns casos de mistério,
Com tamanho palavriado e tanto a sério, Que fico besta!... Ora o ratão! ora a inzonice! Vejam lá, vejam lá, tudo que p'raí disse! Os maranhões, a lengalenga, a choradeira Sobre um doido, coitado, a cair de lazeira! (Designando o doido) Coitado! meio nu, faminto, vagabundo, De charneca em charneca, aos tombos pelo mundo, Sem ninguém... vê-se bem que esta doida alimária É de família pobre, é de gente ordinária. E eu com receios e com medo! Visto ao longe, Tão alto, um vozeirão, as barbaças de monge, Era um horror! coitado! um maluco, afinal... (Aos guardas) Deixem-no em liberdade e não lhe façam mal. Não o espanquem... Ninguém lhe bata... ordens severas! Ninguém bate num doido; os doidos não são feras. Tratem-no bem... com caridade... Para a ceia Uma côdea de pão e a gamela bem cheia. Desgraçado! E dormir... dorme perfeitamente Na estrebaria ao pé dos cães: é limpo e é quente. Roupa grossa... Avisai lá embaixo a canalha... Duas mantas de lã e três feixes de palha. Não se esqueçam! cumpram as ordens que lhes dei!
ASTRÓLOGUS(curvando-se humildemente) Ó alma generosa! Oh magnânimo rei! Que agradável não é ser o cronista obscuro De espírito tão alto e coração tão puro!
(O doido sai acompanhado dos guardas. Os cães perseguem-no,ladrando, até à porta. Desencadeia-se a tormenta. Raios, trovões, aguaceiros, ventanias lúgubres. O rei e os validos dirigem-se ao balcão. O cronista acaricia os cães, galhofeiramente, sorrindo amável)
O CRONISTA (afagando Iago) Iago, meu bom amor! fazes as pazes comigo! Sabes quanto te quero e sei que és meu amigo... Não te zangues... perdão... congracemo-nos, vá! O doido foi-se embora e não torna a vir cá... Havia de eu perder afeições como a tua, Por causa dum maluco a divagar na lua?!... Anda, não sejas mau... fazes as pazes comigo... Meu protetor... meu defensor... meu velho amigo!... (Ameigando Judas) E este Judas!... tão bom... tão leal... tão sincero!... Como eu gosto de ti, Judas! como eu te quero!... (Pegando no Veneno ao colo) E o meu Veneno! o meu bijou! a rica prenda!... Que amor de cão!... que perfeição!... Nem de encomenda!... É de apetite o meu Veneno, o meu tesouro... Uma beijoca, vá, no focinhito louro!... (Afagando os três cães simultaneamente) E, para liquidar agravos duma vez, Disponho-me esta noite a cear com vocês!
O REI (despedindo o cronista) Cronista, vai dormir... boa noite... Deus queira Que o sono te refresque um pouco a maluqueira...
O CRONISTA (sai, pensando) Na batalha da vida evidente se torna Que ou havemos de ser martelo ou ser bigorna. Conclusão natural do dilema singelo: Evitar a bigorna triste... e ser martelo. Monstruoso, feroz, horrível, mas em suma Ponderemos que a vida é curta, — e que há só uma!
CENA IX
O REI (sentando-se comodamente ao fogão) Ora do doido estou eu livre! Agasalhei-o, Matei-lhe a fome, e agora quente, o ventre cheio, Cama bem farta, vai dormir e repousar, E não volta por certo esta noite a cantar... (Repotreando-se alegremente) Uf! sinto-me bem! volto a mim... (Trincando um charuto e voltando-se para Ciganus) Dá-me lume. Ia perdendo o vício... É da regra... é o costume... Em não fumando, mau negócio! ando esquisito... Pois amanhã caçada e tourada, está dito! Hei de abater, e sem fazer lá grandes forças, Doze touros, trezentas lebres e cem corças.
OPÍPARUS (à parte) Já mente... Vai melhor!
(Tiros ao longe. Clamor distante. Os cães ululam)
O REI (sobressaltado) Ouvi... ouvi!... ouvi!... Tiros... detonações... é próximo daqui... Fuzilaria!... Ouvi... Que demônio se passa?!...
CIGANUS São os guardas Del-Rei, que andam de noite à caça...
O REI De noite à caça!
CIGANUS Montaria aos lobos, meu Senhor...
O REI Dei cabo dum aqui há tempos... Que vigor, E que tamanho! Era de noite... foi na estrada... Caiu logo no chão à primeira mocada! Tenho morto dúzias de lobos e de lobas, Nenhum assim: pesava umas quarenta arrobas.
OPÍPARUS (à parte) Sim senhor, eis El-Rei já no estado normal!
(Ouvem-se marteladas cavas e repetidas nos subterrâneos profundos do palácio)
O REI Que barulho lá baixo!... Um estrondo infernal De marteladas!... Santo Deus! nem trinta diabos juntos, Pregando a toda a pressa esquifes de defuntos!
OPÍPARUS (rindo) Gente carpinteirando em tábuas e barrotes, Não para esquifes, meu Senhor; para caixotes! Mandei encaixotar (a providência é boa) Os milhões do tesouro e as baixelas da coroa. E enquanto à coroa, Senhor meu, Ninguém lha roubará, ninguém! defendo-a eu. O trono... o que é um trono? uma simples cadeira De veludo já gasto e de velha madeira. É, pois, minha profunda e sábia opinião Deixá-lo ir sem resistência... A coroa, não! A coroa é d'ouro fino, esmeraldas, diamante, Turquesas e rubis...(uns dois milhões cantantes!) E portanto, Senhor, havemos de levá-la, Há de ir conosco, ao pé de nós, dentro da mala!
CIGANUS (pensando e rindo) Coroa de procissão... rica para um andor: Pedras falsas; troquei-lhas eu; vidros de cor.
OPÍPARUS (continuando: E comido o banquete e devorada a presa, Bem nos importa a nós erguermo-nos da mesa! Partiremos a rir, terminado o dessert, Levando cada qual na algibeira o talher... Com três milhões de renda, um pecúlio feliz, Grande vida a dum rei destronado em Paris!...
O REI É cínico, mas tem pilhéria este demônio!...
OPÍPARUS Bom estômago e ventre livre: um patrimônio! A vida é boa ou má, faz rir ou faz chorar, Conforme a digestão e conforme o jantar. Pode crê-lo, Senhor, toda a filosofia, Ou tristonha ou risonha ou alegre ou sombria, Deriva em nós, tão orgulhosas criaturas, De gastrointestinais combinações obscuras.
O REI E a moral?
OPÍPARUS Rica farsa a moral! Não me ilude. Examinem qualquer vendedor de virtude, Casto como um carvão, magro como um asceta: A abstinência é impotência, o jejum é dieta. O diabo, meu Senhor, já velho e desdentado, Sifilítico, a abanar como um gato pingado, O traseiro sarnoso, em gangrena a medula, Exaurido a chupões de luxúria e de gula, Sentindo-se perdido e rabiando, afinal Quis vingar-se do mundo... e inventou a moral!
O REI (pensando) E, se eu nos pontapés desancasse esta corja, Ia às malvas... adeus! tinha banzé na forja!...
(Fundeou na praia uma galera de corsários. Desembarcam)
O DOIDO (na escuridão) A lua morta boia nas nuvens toda amarela... Corvos marinhos, corvos daninhos pousam sobre ela...
Tiram-lhe os olhos, comem-lhe a boca, já com gangrena... Astros errantes, agonizantes, choram de pena...
Choram de pena, tremem de mágoa, morrem de dor... Na noite escura canta a Loucura, grita o Pavor...
Lobas tinhosas d'olhos d'enxofre saltam valados... Pobres dos gados!... pobres dos gados pelos montados!...
O REI Olha o doido!... Lá torna o doido... Eu logo vi... Canta p'raí até estourar... canta p'raí!... Bom telhudo! em pelote e com este nordeste, A ladrar cantochões à lua!... Que lhe preste!
CIGANUS Deixe lá! faz-lhe bem... faz-lhe bem... P'rá mania Não há nada melhor do que o vento e água fria.
(Rebenta, fora, um grande tumulto. O rei e os validos assomam-se ao balcão. Vem debandando, clamorosa, a revolta vencida. Soldados, prisioneiros, feridos, moribundos em macas. Ais de estertor, pragas, vivas avinhados, gritos de mulheres, choros de crianças. Os cães, truculentos, ululam na varanda)
O REI Que é isto?!... que estardalhaço!... que chinfrineira!... Gritarias... um rodilhão... Temos asneira... Temos coisa... não há que ver, temo-la armada...
CIGANUS (rindo) É a guarda Del-Rei, de volta da caçada. Os monteiros são bons... a matilha é valente...
OS SOLDADOS (em clamor) Viva El-Rei! viva El-Rei!
O REI Compreendo. Excelente! Ora que espiga! por um triz, ahn! por um triz, Não vou às malvas! Ando em sorte!... fui feliz!... Iam-me empandeirando! um cheque e mate ao rei! Ora a cáfila! ora a cambada!... Se eu o sei, Com mil bombas! que os desfazia!... Eu lhes diria! Oh, que porradaria! oh, que porradaria! Rebentava-os! dava-lhes conta do bandulho E dos cornos, mas à paulada! era a estadulho! Quando o trono cair, sem lenha é que não cai... Mostarda rija! O banazola de meu pai Tinha-os em mau costume... Isto agora é perigoso... Aqui há unhas p'ros coser... olá, se os coso!
(Entra um cavaleiro, portador duma mensagem)
CIGANUS (depois de a ler) Montaria real! Foi covil por covil: Feras mortas oitenta e prisioneiras mil.
O REI Dois gajões duma cana! Obra de lei!... Entrego Nas vossas mãos o meu destino, como um cego. Marquês, faço-te duque; e ao ducado acrescento Quinze milhões... Encaixa a história no orçamento... Opíparus, a ti, reinadio e marau, Pago-te os cães: trezentos contos...
OPÍPARUS Não é mau; Recebendo eu o bolo e fazendo a partilha; O meu grande credor sou eu. Quanto à matilha, Que se esfalfe a ganir... Não me incômoda nada...
O REI (voltando-se para os cães) Iago, aboca! Olha o petisco: uma embaixada! Faço-te embaixador! ahn, que empanzinadelas!... Que vidinha!... Um sultão num harém de cadelas!... A este Judas circunspecto que hei de eu dar? O Conselho d'Estado; é próprio e é bom lugar. Conselheiro, portanto. E o Veneno? O Veneno, Conde e ministro. Um felizardo o meu pequeno! Um catita! (Acendendo um charuto e indo à varanda) Perfeitamente! Ora Deus queira Que abichemos um dia bom p'ra pagodeira! Um dia alegre! O tempo muda... ronda ao norte... Magnífico! hão de ver doze touros de morte, Desembolados! Inauguro enfim a minha praça: Vai o Botas, o Pintassilgo e o Calabaça.
O DOIDO (na escuridão) Ao luzir d'alva semeei de flores Uma encosta deserta ao pé do mar Cravos, lírios, jasmins, goivos, amores, Açucenas e rosas de toucar. Ao redor vinha verde e trepadeiras, Medronheiros, figueiras, romanzeiras... Lindo jardim! Lindo pomar! Como no monte não havia fonte, Desatei a chorar para o regar...
Depois, oh meus feitiços! Enchi de abelhas d'ouro cem cortiços E dez pombais com pombas de luar... Olha o lindo jardim!... olha o lindo pomar!... E enxada ao ombro, já raiava a aurora, Abalei a cantar!... Foi há mil anos... Venho mesmo agora De ver a linda encosta à beira mar... Lindo jardim! lindo pomar! As açucenas deram-me gangrenas E os jasmins podridões a fermentar!... Os cravos deram cravos... mas de cruzes! E as roseiras espinhos de toucar... Sobre as ervas no chão crepitam luzes, Fogos fátuos de larvas a bailar... Só dos goivos, Senhor, brotaram goivos, Destilando loucura e rosalgar... Olha o lindo jardim! olha o lindo pomar! Os figos das figueiras são caveiras E os medronhos são balas de matar... Oh, que lindas romãs nas romanzeiras! Corações fuzilados a sangrar!... Inda bem, que em vez d'uvas nas videiras Há rosários de dor para eu rezar... Olha o lindo jardim! olha o lindo pomar! De dentro dos cortiços, que feitiços! Voam corvos e corujas pelo ar... E dos pombais, aos centos, Nuvens de abutres agourentos, Que sobre as romanzeiras vão pousar!... Olha o lindo jardim! olha o lindo pomar! É de encantar a natureza!... ai que beleza! Quantas florinhas para a minha mesa!... Deus, quanta fruta para o meu jantar!... Lindo jardim... lindo pomar!...
CENA X Os mesmos e Magnus, que entra majestoso e solene.
O REI Chega ao calhar... Então, meu duque, a trabuzana Foi boa... Por um triz, iam-nos à pavana!
MAGNUS (grandioso) Valeu-lhe, meu Senhor, (doa isto a quem doa!) Haver três homens, como nós, junto da Coroa, Para a salvar dum grande abismo!... A situação...
O REI Ganhou hoje, meu duque, o Elefante e o Pavão.
MAGNUS Nem sei como exprimir a Vossa Majestade A alegria que sinto!... É demais! que bondade! A grã-cruz do Pavão!... Nunca o julguei... Em suma, Feliz!... morro feliz... Já não há mais nenhuma!
O REI (a Ciganus) E agora?
CIGANUS Meu Senhor, é dormir sem cuidados! Os mortos cemitério e os vivos...
OPÍPARUS Enforcados.
CIGANUS Talvez que sim, talvez que não... É conforme: o rigor, a clemência, o perdão, Tudo às vezes convêm, tudo tem seu lugar...
Enforco-os, claro está, se os puder enforcar. Não podendo, enxovia; e, se a nação revolta Clama contra a prisão... deixá-los hei à solta. Enforcados, melhor. Eu, gente que deteste, Quero em vez de canhões a guardá-la um cipreste. Mas, se matando arrisco a própria vida, não: Converto-me, de algoz furioso em bom cristão... Reinar, eis o importante; o modo é secundário. É conforme se pode; é dia a dia; vário. Fica melhor um rei num corcel de batalha, O chicote na mão, contemplando a canalha. Inspira assim terror, incute medo e fé. Não há, porém, cavalo? É governar a pé. E, se ainda precisa atitudes mais chatas, É governar de toda a forma, — até de gatas! O caso é governar, seja lá como for: Com manhas de toupeira ou voos de condor, Por caminho sinuoso ou caminho direito... Eu, para governar, a tudo me sujeito, Indo de cara alegre até ao sacrifício De ser exemplarmente honesto... por ofício!
(Continua a tormenta. Prosseguem os vivas. Os cães ladrando sempre)
MAGNUS (sentencioso) Nas vistas do marquês há pontos em que abundo, Pontos em que discordo. O mal é mais profundo! Talhemos com firmeza o mal pela raiz! Nas circunstâncias desastrosas do país, Quando um vento de insânia brava nos arrasta, Quando abusos de toda a ordem, toda a casta, Andam impunes; quando a moral e o direito Já não levam sequer à noção de respeito, À noção do dever, urge com brevidade Dar força à Coroa e dar prestígio à autoridade! Eu com rude franqueza o digo: o caso é sério! Nós vivemos (se isto é viver!) num baixo império!
Olhem bem ao redor: uma orgia! um entrudo! Abocanha-se tudo, emporcalha-se tudo, Nem o sacrário da família se venera, Não há reputação, ainda a mais austera, Que a não manchem... um lodaçal, um tremedal de escombros, E nós a vermos isto e a encolhermos os ombros! É demais! é demais! Vamos todos a pique! É necessário um termo! é necessário um dique! Sursum corda! Que El-Rei leve a bandeira em punho! E inda há gente... inda há gente! inda há homens de cunho! Inda há muita aptidão, muita capacidade E muita honra!... O que é mister é uma vontade! Obre El-Rei com firmeza! obre El-Rei sem demora! Qual o cancro que dia a dia nos devora? Toda a gente que vê, toda a gente que pensa Põe o dedo na chaga e conclui: a descrença! Se o mal vem da descrença, ataque-se a questão! Religião, Senhor e mais religião! Deus e mais Deus! tendo nós Deus e a força armada, Não há receio algum; dormirá descansada A monarquia. Deus, embora neste meio, Queiram ou não, é sempre Deus!... é ainda um freio!
OPÍPARUS (galhofeiro) E o profeta, que nos censura e nos fulmina, Tem palácio, grande estadão, mesa divina, É joisseur como dez banqueiros elegantes, E, fato escandaloso! a respeito de amantes Cultiva sobretudo (às vezes com seus perigos...) Esta especialidade: a mulher dos amigos!
MAGNUS (furioso) Safa! que língua! que veneno!...
O REI E o duque atomatado! Como se não pudesse um ministro de estado Regalar-se com vinhos bons ou fêmea alheia! Deixe-os morder de raiva. É tudo inveja, creia. Gosto dum velho assim, danado e atiradiço... Um velho folgazão... Simpatizo com isso. É cá dos meus... é cá dos meus...
MAGNUS (risonho e vaidoso) Na juventude, Rapaz... como rapaz... vamos! fiz o que pude!... A crônica inda o lembra... Hoje o caso é diverso... Aos sessenta já custa a endireitar um verso!
O REI Maganão!
MAGNUS Hoje não!... Só em pequenas dozes... Falta o melhor... São mais as vozes do que as nozes...
O REI (gracejando) Mas o que a mim me espanta, e não entra na bola, É sair-nos o duque um perfeito carola! Se a rainha estivesse, inda d'acordo, admito... Mas entre homens pregar sermões acho esquisito, Meu caro duque... Estou a vê-lo qualquer ano, Entrapado em burel, frade varatojano!
MAGNUS (solene) Distingo, meu Senhor, distingo: sou cristão, Com as rédeas do governo e do poder na mão. Católico e de lei, sob o ponto de vista Administrativo, e nada mais. Como estadista, Eu considero a Igreja uma pedra angular Da ordem! Quero o trono achegado ao altar!
A Igreja tem prestígio! a Igreja é um sustentáculo! Convêm ao cetro ainda a amizade do báculo! O homem público em mim, o defensor da Coroa, É desta opinião. Sustento-a e julgo-a boa. Mas cá dentro, no foro interno, a sós comigo, Eu, o particular e o filósofo, digo-o Alto e bom som, digo-o de cara e sem temor: Não há ninguém! ninguém! mais livre pensador! Eu admiro Voltaire!... Eu encontro-me em dia Com a marcha do globo e da filosofia.
O REI (galhofando) Se a Rainha lhe sente ideias desordeiras...
MAGNUS Leio Voltaire, mas quero os frades!...
OPÍPARUS E eu as freiras...
CIGANUS Por mim desejo tropa, em lugar de irmandades. Mas, se a rainha quer os frades, venham frades. Com certo jeito e condições, inda afinal Se atamanca de Deus um bom guarda rural...
(Trovão retumbante. A caverna da noite incendeia-se de ouro, abrasada a relâmpagos. Ais e lamentos. Gritos ferozes de soldados. Uivam os cães. Sente-se ao longe um rumor imenso de multidões que debandam)
MAGNUS (meditando) Que demônio!... cheira a chamusco... Volta a dança... Olha que brincadeira!... Isto, se a coisa avança, Vai tudo raso, vai tudo em cacos pelo ar! Não me sinto aqui bem... Nada! ponho-me a andar!... Uma história qualquer... (Ao rei)
Meu Senhor, a duquesa... (Foi deste abalo repentino, esta surpresa...) Achou-se mal, deu-lhe um febrão... em tal estado, Que não gosto... não gosto... inspira-me cuidado... E se El-Rei o permite...
O REI Ignorava... Ora essa, Meu caro duque! Ande ligeiro, vá depressa... Boa noite... Dormir um pouco, e às cinco e meia Na tourada. Curro catita! É de mão cheia!
(O rumor longínquo, de maré humana, avança, trágico, na escuridão profunda. Surge na praia uma nau gigante, embandeirada de negro.Uivam os cães)
CENA XI
O REI Ouvi!
OPÍPARUS O mar.
CIGANUS Não é o mar; a ventania.
O REI Também não... Escutai... escutai...
OPÍPARUS Dir-se-ia O confuso estridor, desordenado e vário Dum exército louco, em tropel tumultuário...
(O rei com os validos assoma-se ao balcão. Hordas inúmeras de esfarrapados, multidões de mendigos, turbas espectrais, homens e mulheres, velhos e crianças, ululando, gritando, praguejando, baixam a montanha em direção à praia, numa torrente caudalosa, numa levada contínua de sofrimento e de miséria. E o porão tenebroso do navio-fantasma engolindo, aos cardumes, vertiginosamente, aquela humanidade enlouquecida. E a enxurrada sinistra, avolumando, alastrando, cada vez mais tumultuária e bramidora. Dir-se-ia um povo de malditos, debandando a um cataclismo inexorável! Povo imenso, não tem fim, mas o navio não tem fundo. Cabe tudo lá dentro. Os cães, na varanda, rosnam, sombrios e provocantes)
O REI Que quer isto dizer?! que chinfrineira é esta?!... Que balbúrdia!... que multidões sombrias!... temos festa!... Oh, com mil raios! temos festa... Há banzé novo... Que estardalhaço... Um mar de gente!... um mar de povo, A correr, a crescer... Gritos, uivos, bramidos... Era uma vez, marquês!... Pronto! estamos perdidos!...
CIGANUS (fleumático, acendendo um charuto) Coisa vulgar, Senhor: emigrantes, miséria...
O REI Cuidei que era chinfrim de novo... Ora a pilhéria! Cuidei que era chinfrim... E antes o fosse! Ao cabo, Zurzia-os duma vez a pontapés no rabo! Punha-os de molho! A garotada jacobina Hei de lhe eu amolgar as trombas numa esquina! Chegando-me ó nariz os vinagres, cautela! Dá-me a fúria... e caramba! é d'alto lá com ela! Em Évora uma vez, há coisa de dois anos, Salta-me num caminho um bando de ciganos, Era de noite, mais escuro do que um prego, Atiro-me, arremeto às doidas como um cego, E esbandulhei quarenta e quatro!... Um bom chinfrim!...
OPÍPARUS O canhão Krupp?
O REI (sacando, da algibeira, um navalhão de ponta e mola) A naifa! Com um gesto esfaqueante: Eu cá é isto: assim!
O DOIDO (na escuridão) A fome e a Dor escaveiradas Ululam roucas nas estradas, Irmãs sinistras de mãos dadas... Misericórdia! Misericórdia! Na escuridão, entre lufadas, Que pavorosas debandadas De multidões desordenadas... Misericórdia! Misericórdia! Turbas gemendo esfarrapadas, Por ventanias e nevadas, Filhos ao colo, ao ombro enxadas, Sem luz, sem pão e sem moradas!... Misericórdia! Misericórdia! E em salas d'ouro, iluminadas, Há beijos, risos, gargalhadas... Misericórdia! Misericórdia! E, por outeiros e quebradas, Tombam choupanas arruinadas... Mortas... desfeitas em ossadas... Misericórdia! Misericórdia! Misericórdia!
OPÍPARUS Que bela voz! Dava um barítono estrondoso O diabo do maluco!...
O REI A mim faz-me nervoso, Não sei porque... Faz-me nervoso... Embirro, é doença...
Mas quanto poviléu! que turbamulta imensa De esfaimados, de miseráveis no abandono, Rafeiros a latir, sem albergue e sem dono! Vejam isto...
CIGANUS A miséria é lama, é sangue, e é pranto, A fermentar em crime e em veneno. Portanto Precisa esgoto; quer-se um esgoto e despejá-la Continuamente num porão ou numa vala. Emigrar ou morrer; degredo ou cemitério. O hálito da pobreza imunda é deletério. De trapos de mendigo e lençóis de vilão Faz a anarquia flamejante o seu pendão. Curta distância vai da indigência à rapina, Da mão que implora à que estrangula e que assassina. Dorme em cada esfaimado um tigre. Há que evitar Na rua aglomerações de ventres sem jantar. A miséria despeja-a Deus, a Providência, Do seu vaso noturno ao saguão da existência. Que fazer contra a lei de Deus, contra o Destino? Arredar para longe o excremento divino, Para bem longe, de maneira que a infecção Não nos perturbe a nós, Senhor, a digestão...
O REI É triste, mas enfim que remédio lhe dar?!
OPÍPARUS Comer, beber, dormir, jogar, caçar, dançar! Festas, Senhor! Muitas e vãs, loucas e várias! Não há jantar? Função. Não há pão? Luminárias. A pobreza anda rota, a canalha anda nua? Girândolas ao ar e músicas na rua. A fome e a dor bramem de noite, uivam nas eiras? Matinadas, clarins, vivas ao rei, bandeiras. Alegria! gozar! folgar! nada de luto!
Bombas! Salvem canhões de minuto a minuto! E a cada grito de miséria ou de estertor O cantar dum Te-Deum e o rufar dum tambor. Dê-se à plebe faminta uma estrondosa orgia, Um banquete real, monstro, — em cenografia! Que bela ideia! Armar de improviso um galeão, —Tábuas, cinábrio, gesso, andrinópla e cartão, — Pô-lo em rodas, tirado a parelhas d'Alter, A corte dentro, o Patriarca, o chanceler, El-rei de coroa d'ouro, a rainha taful, Asas novas de arcanjo, uma branca outra azul, Eu ao leme, pendões, músicas, auriflamas, Bispos e generais, o núncio, arautos, damas, Com brilhantes a arder em veludo e em brocado, —Tripulação enfim de baixel encantado, A navegar de rua em rua, e praça em praça, Atirando à miséria, à nudez, à desgraça, A carga inteira a plenas mãos: lodo em confeitos, Gargalhadas, sermões de entrudo (alguns perfeitos!) Drogas de charlatães, ditos de saltimbanco, Cinza, areia, impudor, fome... e notas de banco! E por último a rir sentamo-nos à mesa, A despejar champanhe em favor da pobreza!
O REI Despovoa-se tudo!
CIGANUS Um êxodo...
OPÍPARUS Senhor, Grande mimo de Deus para um rei caçador! Terra despovoada e morta, sem ninguém, É terra inculta. Bem, perfeitamente bem. Ora uma terra inculta, (é, meu Senhor, um fato)
Não dá vinho, nem pão, nem meloais, — dá mato. E o mato bravo e as brenhas virgens dão a caça Com mais fartura, variedade e doutra raça. Pelos jardins d'agora, em dez anos talvez, Andaremos ao lobo e ao cabrito montês. Olivedos, vergeis, campos, lezirias, prados Criarão a raposa, aninharão veados. E onde hoje há couves e maçãs, El-Rei, feliz, Galopando a primor, monteará javalis!
(Trovão formidando. Um relâmpago lívido abrasa as profundidades cavas do horizonte. As árvores, de súbito, aparecem nuas e hirtas, sem uma folha. Dos ramos, batidos do vento, pendem enforcados. Dir-se-iam esqueletos de árvores gente. Nuvens de abutres pairam em volta, crocitando)
O REI Pavoroso!
OPÍPARUS Ora adeus! nada mais natural: A fome trás a morte, os mortos cheiram mal, E o cheirete dum morto, assim dependurado, Para um corvo é melhor que o dum faisão trufado.
O DOIDO (na escuridão) Olha as macieiras que maçãs que dão: Gangrena por fora, dentro podridão!
Lavrador-coveiro, lavrador-coveiro, As maçãs escusam de ir ao madureiro...
Oh, que estranhos figos que há nos figueirais: Mordidos d'abutres!... Figos que dão ais!...
Lavrador-coveiro, lavrador-coveiro, Colhe-me essas bebras que já têm mau cheiro...
Se é fruta de embarque, vai pelo caminho Desfazer-se toda nos caixões de pinho...
Fruta de tal raça, cavador lunar, Só a quer a Morte para o seu jantar!...
O REI Dou às vezes razão ao tonto do cronista... Que lhe querem! não é agradável à vista, Por noite negra uma bandada de milhafres, Grasnando e devorando, à maneira de cafres, Uma ceia de carne podre...
CIGANUS Que limpeza! Deixe-os comer... deixe-os comer... Varrem a mesa. Mortos e mortos na floresta à dependura, Um açougue... Não há coveiro, nem há cura, Nem tochas, nem latim para tanta carcaça... Os corvos, meu senhor, enterram-nas de graça. Admiráveis glutões, em bambocha funérea Liquidam numa noite a questão da miséria. Jantam-na. Devorado o problema. Afinal Restam ossos; convêm: tem fosfato de cal, Bom adubo... E no entanto o país, meu Senhor, É uma beleza! uma beleza! encantador! Trinta portos ideais, um céu azul marinho, A melhor fruta, a melhor caça, o melhor vinho, Balsâmicos vergeis, serranias frondosas, Clima primaveral de mandriões e rosas, Uma beleza! Que lhe falta? Unicamente Ouro, vida, alegria, outro povo, outra gente. Raça estúpida e má, que por fortuna agora Torna habitável este encanto... indo-se embora! Deixe morrer, deixe emigrar, deixe estourar: Dois boqueirões de esgoto, — o cemitério e o mar.
Que precisamos nós? Libras! libras, dinheiro! Libras d'ouro a luzir! Onde as há? No estrangeiro? Muito bem; o remédio é claríssimo, é visto: Obrigar o estrangeiro a tomar conta disto. Impérios d'além-mar, alquilam-se, ou então Sorteados, — em rifa, ou à praça, — em leilão. E o continente é dá-lo a um banqueiro judeu, Para um cassino monstro e um bordel europeu. Fazer desta cloaca, onde a miséria habita, Um paraíso por ações, — cosmopolita. Dar jogo ao mundo, ao globo! uma banca tremenda! Cálculo eu daí uns mil milhões de renda. O comércio, dez mil... O trânsito, sem conta... Cifras, Senhor, de por uma cabeça tonta! De minuto a minuto, expressos e vapores, Sempre a golfar carregações de jogadores, Montões de malas, sacos d'ouro, (libras, luíses!) Nuvens de cortesãs, dançarinas e atrizes, Equipagens, Barnoums, touristes, saltimbancos, Vinte raças, — mongóis, negros, mestiços, brancos, Um ruidoso vaivém humano que circula, Todo fausto, esplendor, alta luxúria e gula, O milord, o nababo, a Rússia, a Índia, a América, Numa promiscuidade esplêndida e quimérica! E todo este país, éden de rega-bofe, Iluminado à noite a faróis Jablokof! Que maravilha! que surpresa! que grandeza! E que tesouros nesta rica natureza, Cultivando-a a primor! Em lugar d'erva e searas, Plantas de luxo: coisas finas, coisas caras. Eu imagino, (dando os máximos descontos) Que o reino lucrará uns trezentos mil contos, Somente a produzir, ao ar livre e em estufas, Ananases, faisões, ópio, champanhe e trufas.
(Relâmpagos e trovões. Paisagem deserta. A nau fantasma, cortada a amarra, bamboleia nas ondas, prestes a largar. Uma sombra disforme, como de ave gigante, voa na escuridão)
O REI Um bacamarte! uma clavina! uma escopeta!... Cheguem daí... salta depressa uma escopeta! Salta depressa! que vão ver como rebento Às escuras aquela águia... É num momento Já duma ocasião, (que pontaria a minha!) Com um balázio matei oito: iam em linha. A escopeta, marquês!
CIGANUS Não lhe serve de nada; É a bandeira do castelo. Uma rajada Sem dúvida, Senhor, quebrou o mastro e leva Num frangalho o pendão errante pela treva.
OPÍPARUS Ótimo! de manhã flutuará no baluarte Pendão novo. Tem cinco quinas o estandarte; Uma quina de mais; suprime-se, é evidente: Nos baralhos, Senhor, há quatro unicamente.
(O navio fantasma, que levantou ferro, desaparece ao longe)
O DOIDO (na escuridão) Ó nau gigante, ó nau soturna, Galera trágica e noturna, Que levas, dize, no porão?...
O vento chora sobre o mundo, Chora de raiva o mar profundo... Que levas, dize, no porão?...
A lua, aziaga e macilenta, Olha-te exânime e sangrenta... Que levas, dize, no porão?...
Asas carnívoras em bando Pousam nas vergas crocitando... Que levas, dize, no porão?...
Teu cavername exala miasmas, Teus marinheiros são fantasmas... Que levas, dize, no porão?...
Teu pendão negro vai a rastros, São cruzes negras os teus mastros... Que levas, dize, no porão?...
— Dentro do esquife, amortalhada, Levo uma pátria assassinada, No meu porão!...
O REI Este ladrão do doido irrita-me! é demais! Não se cala, caramba! é demais! é demais! Já não posso... Marquês, se o diabo me inferniza, Outra noite com a lengalenga; uma camisa De forças, bom vergalho, e, sem dó nem piedade, Enxovia ou masmorra onde grite à vontade.
(Abre um relâmpago o horizonte. As carcaças nuas dos enforcados balouçam ao vento nas árvores despidas. Nem viv'alma. No cerro dum monte erguem os piratas uma cruz descomunal, manchada de sangue. Uivam os cães)
O REI Uma cruz negra além!...
CIGANUS Onde?... Não vejo nada...
O REI Uma cruz toda negra e toda ensanguentada!...
CIGANUS Foi decerto ilusão... (Rindo) É calvário feroz Que espera alguém...
OPÍPARUS Nenhum de nós... nenhum de nós... Poderemos dormir tranquilos, sem receio Dum calvário onde apenas haja a cruz do meio...
(Uivam os cães sinistramente)
O DOIDO (na escuridão) Em noite sem lua, numa nau sem leme, fui descobrir mundos, Mundos pelo mar... O vento sopra, o vento sopra... Quanta areia negra faz turbilhonar! — Mundos a voar... mundos a voar...
Por manhã dourada, galeão dourado vinha cheio d'ouro!... Rubis cintilantes, Pérolas, diamantes... Vinha cheio d'ouro... O vento sopra, o vento sopra... Que cinza de campas se alevanta ao ar... — Meu ouro a voar... meu ouro a voar... Castelos nas praias, galeras nas ondas, reinos d'além-mar!... O vento sopra, o vento sopra... Que bandos de nuvens!... vão-se a desmanchar!... Castelos... galeras... reinos d'além-mar...
Foi um sonho lindo... foi um sonho lindo... Como é bom sonhar!... Acordei sem alma... quem me encontra a alma... Quem ma torna a dar! Queimou-se o casebre... só tições escuros, só carvões escuros, Inda a fumegar... (Quem ma torna a dar!) Que bem dormiria debaixo dos muros... Tão quente!... debaixo das pedras do lar! Oh, que inverneira! oh, que inverneira! Crestou-me o vinhedo, secou-me o pomar! A terra levou-a... deixou-me só fragas... Deixou-me só fragas, para as eu calcar... Peguei na minha dor, botei-a às fragas... Não tinha mais que semear! O que viria, o que viria Da minha dor na primavera a rebentar?... Um tronco despido me brotou das fragas, (Que singular! que singular!) Um tronco despido, Sem ramos, sem folhas... um tronco no ar! Depois medrou tanto, como por encanto, Que andadas três luas era secular! E nem uma folha e nem um raminho, Onde um passarinho pousasse a cantar!... Um tronco no ar! Mas de repente, de repente Deitou dois braços, logo um par! Braços estendidos, abertos e nus, Como que a chamar... como que a chamar... Mas, oh Deus! que vejo! uma perfeita cruz, Uma cruz erguida sobre um grande altar!... Minha dor nas fragas, entre uns estilhaços De rochedos duros no que veio a dar!... Inda bem! Ora inda bem que já no mundo há braços, Para me abraçar!...
O REI Já estou farto de cantochões, de ventania E dos agouros!... Passa das três; é quase dia... Vamos dormir... (Apontando o pergaminho) Cá deixo esta léria assinada. Falaremos depois. Rendez-vous na tourada.
CENA XII
O REI (só, ao fogão, olhando o pergaminho) Belo! toca a assinar o papelucho e cama. Vão-se os pretos! Adeus, pretangada e mourama! Inda bem! Já ninguém desde hoje me seringa, Levantando questões dum cafre ou duma aringa. Durmo esta noite como um odre. Para insônias O remédio é mandar à tubua as colônias. Que se governem! tudo nos quintos! tudo à fava! (Olhando os retratos da dinastia) O que diriam disto os maganões?... Gostava Duma palestra com vocês... Vinha n'altura...
(Trovão retumbante. Os cães ululam. Diante do rei, varado de assombro, ergue-se de improviso o fantasma de D. João IV. O rei quer falar, quer fugir, mas paralítico de medo, olhar atônito, nem um gesto, nem um ai, nem um grito. Desfalece, caindo imóvel)
CENA XIII
O ESPECTRO DE D. JOÃO IV (ar untuoso, manhoso, beato, falso e pusilânime) Tens medo de assinar? Pesa-te a assinatura? Vais ouvir meu conselho:
Ânimo bravo e ardente, Em lacaios fiéis predicado excelente. Num monarca já não... A fraqueza traiçoeira, D'olhos de lince e passos mortos de toupeira, Vence tudo... Precisa um rei de heroísmo audaz? Serve-se dos heróis e fica ele em paz. Nada que nos perturbe a digestão e o sono; Para dar bom assento é que se fez o trono. Os reis são reis e os homens cães, em vário estado: Ou cães de caça ou cães de fila ou cães de gado... Mas tudo cães. Chicote a uns e a outros festa, Eis do governo a arte; é bem clara; só esta. Com os homens, assim. Com Deus, trato diverso. Tu és o rei dum povo, ele o rei do universo. Depois da morte há inferno e paraíso; então Lida sempre com Deus, como bom cortesão. Vale a pena. Medita as chamas infernais, As mil cobras de fogo em doidas aspirais, Enleadas a nós!... que tortura! que horror! Ah, vale a pena servir Deus e ter-lhe amor! Não só a Deus; aos santos todos! E a Maria, À Virgem-Mãe, oh filho! a essa, noite e dia É rezar; é rezar de joelhos na capela! A nada atende Deus como a um pedido dela.
Firma o tratado. Firma-o de pronto e sem receio. Entre as hostes iguais a dúvida, no meio, Hesita, é bem de ver... Mas neste caso, em suma, Não encontra a razão hesitação alguma. O teu povo dum lado e o bretão do outro lado; Ora, entre um borrego e um leopardo esfaimado, Não há brio a atender, há vida a defender. O leopardo é o mais forte: assina... tem de ser. A fera vem bramindo e quer do teu jantar; Chicoteá-la? Não; pode-te estrangular. Dividirás com ela; e tu, quietinho e manso, Fica à mesa comendo o resto com descanso.
Creio que para ti e para herdeiros teus Há de ainda chegar talvez, graças a Deus. Graças a Deus e à Virgem-Mãe, a quem eu dei A tutela do reino e o coração do rei. (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Dum duque fiz um rei; e o rei me disse: Vamos Ouvir à igreja (era de noite) o meu Te-Deum laudamus. Era de noite... era de noite... na encruzilhada, Quando me viu, cantou um galo preto uma alvorada. Bonita festa, (disse eu entrando) bonita festa! Que igreja esta Tantos panos escuros... tantos panos escuros, Velando os muros! E um esquife sombrio Num catafalco... um grande esquife negro, inda vazio!... Mas coisa horrenda e de pasmar, O altar! o altar! Crucificado num madeiro um cordeirinho branco exangue E treze tochas de gangrena azul, chorando sangue!... Veio da sacristia a clerezia... Olhai, olhai O padralhame que aí vai! Raposas sarnentas e lobos gordos ulcerados, — Dominus vobiscum! — todos paramentados e mitrados. E era um bode de andaina vermelha o sacristão, Um bode corcunda, ventrudo e lanzudo, galhetas na mão. E quem cantou a missa de pontifical Foi o rei! era o rei... tal e qual! tal e qual! Mas tinha rabo de raposa e tinha olhos de chacal! Cantava de papo, cantava de papo, E a boca imunda, sem tirar nem por, uma boca de sapo! O Espírito baixou então divinamente, Pousou no rei, e o rei lhe disse: — Olá! olá, Vicente — E as dois órgãos ao fundo, que rouquidões! Grunhindo trovões por entre os cantochões! E toda a padralhada, no seu cartimpácio,
— Oremus! Oremus! Santo Inácio e mais Santo Inácio! — E ao levantar a Deus enfim, De hóstia e cálix na mão, o rei voltou-se para mim: — Este vinho é o meu sangue. Este pão negro é o meu corpo: Toma lá o meu sangue, toma lá o meu corpo. — Cuspiu no cálix, deu-mo a beber, bebi... bebi... E a hóstia impura, nem sei de azeda como a engoli! E envenenado fiquei... envenenado fiquei Pelo corpo do rei, pelo sangue do rei! Envenenado e paralisado, Mas inda a ver, inda a sentir... como um dormir De defunto acordado... Então o rei pegou num cutelo, abriu-me o peito, Meteu as mãos... e tirou-me a alma com todo o jeito! Era uma virgem, corpo de deusa, branca e nua, Como que feita, num sonho triste, do alvor da lua... A minha alma aquela! a minha alma aquela! Oh, nunca a imaginei assim, tão formosa e tão bela! Mas que ar de nojo e de amargura Envolvendo-a, pálida e branca, em noite escura! Deitaram-na ao caixão, pregaram-lhe a tampa às marteladas, E o rei: — Oremus! Oremus! Oremus! — Às gargalhadas. E no madeiro o cordeiro manso, dolorido, Deu o seu último gemido... E expiraram no altar As treze velas bentas de rosalgar... E a clerezia pela noite, em chusma, como assombros, Debandando e levando o esquife, aos encontrões, nos ombros... E a mim deitaram-me a dormir num fraguedo deserto, Sem alma, com o peito um rasgão de sangue, todo aberto!... Ei-lo aqui... ei-lo aqui... Nunca o deixei cicatrizar... Que é para a alma, quando me volte, poder entrar... As almas não morrem... As almas não morrem... Nem Deus, tendo-as feito, é capaz de as matar!...
CENA XIV O ESPECTRO DE D. AFONSO VI (que entra alucinado, hemiplégico, azorragando, furioso, uma matilha de cães imaginária) Ah, marotos! ladrões!... ladrões!... perros danados!... Vão inda perseguir-me à tumba estes malvados! Assassinos! ladrões! Nem no sepulcro existe Repouso para um morto, alívio para um triste! Nem debaixo da terra enfim, víboras más, Me deixais, me deixais apodrecer em paz! Nem morto dormirei... coitada criatura! E como o sono eterno é bom, ó noite escura!... Ah, como é bom dormir... dormir... dormir... dormir!... Não ter alma, não ver, não gemer, não sentir!... Sem reino, sem mulher, sem irmão, sem cuidado, Dormir... dormir!... Que brando leito de noivado!... ..................................................... Mas foram-me acordar, os malditos!... Já sei... O que querem de mim... Já sei... Já sei... És tu, El-Rei? Foi mandado Del-Rei... Já sei... lembro-me agora!... ..................................................... Assina tudo... assina tudo e sem demora. Tens medo de perder o trono, de o largar? Ah, deixa-o ir, deixa levar, deixa roubar!... Que leve trono e cetro e coroa quem quiser... Para ti... para ti... guarda os cães e a mulher. Guarda a mulher... guarda a mulher! Bem conta nela! Tens irmão? Tens irmão!... Pobre de ti!... cautela!... Não há crer em irmãos, nem há fiar em mães! Que levem tudo, tudo... exceto a amante e os cães!... Oh, as noites d'amor!... oh, as manhãs de caça!... (Indo a sair e parando de repente, ao ver os cães) Tens fracos cães... Adeus... Fracas ventas... má raça!...
O DOIDO (na escuridão) Quem me roubou da fronte o meu diadema?... Quem ostenta na fronte o meu diadema?... —Teu irmão! Teu irmão!
Quem abraça a rainha no meu leito?... Alva, loira e mimosa no meu leito?... —Teu irmão! Teu irmão!
Quem bate as brenhas com meus cães de caça, Ao luzir d'alva com meus cães de caça?... —Teu irmão! Teu irmão!
Quem nesta campa me enterrou em vida?!... Quem nesta campa me enterrou em vida?!... —Teu irmão! Teu irmão!
Ai, arranca-me os olhos por piedade! Ai, arranca-me a vida por piedade! Irmão! irmão! irmão!!...
O ESPECTRO DE D. AFONSO VI (assomando ao balcão) Um doido enorme! além... na escuridão... além... Doido sou eu também... doido sou eu também... Pobre doido!... infeliz... coitado! algum irmão Lhe roubou a mulher... (Ao rei) Tens mulher?... Tens irmão?... Não há crer em irmãos, nem há fiar em mães... Guarda a mulher... (Desaparecendo) Oh, que estupor de cães!... oh, que estupor de cães!...
CENA XV O ESPECTRO DE D. PEDRO II (tipo de valentão de cavalariças, brigão de estúrdias, sanguinário e crapuloso, sifilítico e bêbado) Tu sabes escrever? Assina. Por que não? Ora o grande poltrão, Que é preciso borrar-se e andar de n'águas sujas, P'ra lançar no papel, conho! três garatujas! Medo de quem? Do povo? O povo com que lidas É cavalo velhaco e de manhas sabidas. Montá-lo com temor? Adeus! cospe-te fora. Mas, sentindo-te firme e nos ilhais a espora, Cai-te em breve a mão e a preceito o governas. E, se escabreia, ai dele! estourá-lo entre as pernas. Vamos nós a saber, diz-me lá sem rodeios: És homem? quer dizer: — tem-los bons? — tem-los cheios? Meu irmão não os tinha, E por isso ficou sem reino e sem rainha. Para inimigos forca; ou antes emboscadas, Despachando-os de vez a tiro e a cutiladas. Pedem tais aventuras Gente rija; hás mister de quadrilhas seguras: Mulatos, valentões, brigões, ralé feroz, Que te adivinhe o olhar, pronta à primeira voz. Tive-os duros de lei! homens sem embaraços Para estourar, de frente, o diabo a clavinaços! À nobreza mercês e favor... mas cautela! Desconfia, vigia... e reparte com ela. Enfim, guarda bem paga, alerta e satisfeita, E atrás de cada muro um cão de lobo à espreita. E nada mais, e nada mais! gozar, gozar À vontade e sem medo, até Deus te levar: Correr touros, domar corcéis, adestrar forças, Batidas pelo monte ao javali e às corças, Mesa opulenta, vinho antigo, cama vasta, E fêmeas boas e a granel, de toda a casta!
Mulherio de truz, às dúzias, sejam elas Freiras ou barregãs, com marido ou donzelas. E agora, adeus. Assina. Os ingleses, que diabo! É quem nos vai guardando os fagotes, e ao cabo, A troco duns sertões com negros de má raça, Mercam-nos inda a pinga e vestem-nos de graça! (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Era a rainha uma sereia, Corpo de neve... Ameia-a e desejei-a. Meu irmão era o rei; sem dor e sem abalo, Mandei matá-lo. Arranquei-lhe do peito o coração: Batia inda por ela... Dei-o a um cão. E fomos para a igreja iluminada Eu, meu irmão e a minha amada. Nós a casar, Ele a enterrar. Quem me casou a mim Disse-lhe a ele o último latim. A sepultura Tinha quarenta braças de fundura. Despenhado o caixão, entulhou-se o coval De pedra e cal. Boas noites, irmão!... Boas noites, irmão!... E fui-me alegremente, oh, que ventura a minha! A noivar com a rainha. Deitamo-nos na cama, apagamos a luz, E ao irmos enlaçar, furiosos e nus, Como doidas serpentes, Os desejos ardentes Abraçamos, horror! na escuridão, Entre nós dois, amortalhado e morto, meu irmão! Meu irmão! meu irmão!... Era ele... apalpei-o... Lá estava escancarada a facada no seio...
Meti-lhe dentro a mão... Não achei coração... Era ele! era ele! era ele! Cuidei em no matar, sem me lembrar Que já morrera!... Louca, a rainha tremia... Quis atirá-lo ao chão... era de bronze! era de bronze, não podia. Quisemo-nos erguer, fugir, fugir!... e de repente Quedamo-nos os dois paraliticamente, Ali imóveis, sem um gesto, sem um grito, De sentinela toda a noite ao cadáver maldito!... Oh, noite imensa! Oh, noite imensa! Oh, noite imensa! Que eternidade!... Enfim, desmaiada e gelada, Eis a alvorada! Erguemo-nos do leito... E o morto, aconchegando o sudário no peito, Cravou em nós, indo-se embora, Aquele olhar noturno e triste que apavora!... Fitamo-nos então os dois amantes: Oh, que semblantes! Nosso cabelo em desalinho, Alvo de arminho, Acusava dez séculos de dor! Brando leito d'amor!... brando leito d'amor!... Todas as noites depois dessa, todas, todas, Vem meu irmão às minhas bodas! Deita-se entre nós dois amortalhado Até ser dia... Que noivado!... oh, que noivado!... Não te quero ver mais, ó meu algoz, ó meu espectro! Leva a rainha... leva a coroa... leva o cetro... Leva-me tudo e deixa-me dormir, Dormir em paz!... dormir! dormir! dormir! dormir!...
CENA XVI O ESPECTRO DE D. JOÃO V (velho, asqueroso, idiota, meio paralítico. Tartamudeia desconexamente, embrulha a ladainha com a Martinhada, engole uma hóstia santa, depois uma pastilha afrodisíaca, geme, chora, dá um arroto, baba-se e desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Mora num convento, com onze mil freiras, Um bode dourado, chamado Sultão: São moças as monjas, loiras ou trigueiras, E o bode frascário como um garanhão. Ao dar meia-noite, com fúria insensata, Na torre da igreja dobra o carrilhão; Martelam nos sinos badalos de prata, De imunda, de horrível configuração!... Milheiros de luzes, brandões macerados Tremulam no templo... que imenso clarão! Faíscam diamantes, lampejam brocados, Incenso da Arábia voa em turbilhão! Os santos e as santas, alfaias e altares, É tudo ouro virgem, que cintilação! Crepitando fogos de gemas solares, Topázios da Pérsia, rubis do Indostão. Debaixo dum pálio de lhama purpúrea Levanta-se um leito rútilo e pagão: O leito do bode, Senhor da Luxúria, Com mais pedrarias que o de Salomão. Já o órgão reboa, frementes e nuas, As onze mil monjas vêm em procissão... Os olhos de chama, traseiros de luas, Rezando palavras de abominação!... Mitra coruscando, sedas fulgurosas. A cruz sobre o peito, báculo na mão, Conduz a teoria das monjas ansiosas, Um bispo castrado, que é seu guardião. O bode rebrame no leito de pluma... Acercam-se as freiras... e o bispo capão
Entrega-as ao bode, dá-lhas uma a uma, Com ar de respeito, com veneração... São onze mil noivas, são onze mil bodas... Formidavelmente gira o corrilhão... E o monstro lascivo padreia-as a todas, Num delírio tremens de fornicação! Depois do execrando, bruto cevadouro, O bode, desfeito de devassidão, Toma um semicúpio numa concha d'ouro, Em água benzida pelo capelão. E, sinos calados, extintas as luzes, Entregues as freiras ao seu guardião, Persigna-se o bode, fazendo três cruzes, E em paz adormece como bom cristão. E ao cabo duns meses, final de tais contos, As monjas nas celas, com toda a razão, Parem arcebispos, mitrados e prontos, Exemplo mui alto de grã devoção!...
CENA XVII
O ESPECTRO DE D. JOSÉ (que vem de manso, desconfiado, olhando à volta, como temendo o quer que seja. Depois, baixinho, ao ouvido do rei) O marquês não está?... Vê lá... Guardas segredo? Então assina... Adeus... pode vir... tenho medo!... (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Diz o rei à amante: "Vem para os meus braços!" — Ardem nos teus braços nódoas do meu sangue!...
"Vem para os meus braços, dorme no meu peito..." — Ardem no teu peito nódoas do meu sangue!...
"Dorme no meu peito, junto dos meus lábios..." — Ardem nos teus lábios nódoas do meu sangue!...
"Oh, que ideias loucas, meu amor dourado!... Fui à caça aos lobos, venho ensanguentado."
Deitam-se na cama... Longe, ao pé do mar, Centos de martelos, truz! a martelar!...
— Ai, levantam forcas!... Pesadelo horrendo!... "Um bergantim d'ouro que te estão fazendo..."
Beija o rei a amante com lascivo ardor... Vem da noite funda gritos de estertor...
— Matam-me os parentes!... bem lhes ouço os ais!... — "São as rolas, filha, pelos pinheirais..."
Beijam-se um ao outro, presos por abraços, Sente-se nas trevas um mover de passos,
E entram degolados, arquejando arrancos, Três fantasmas, vede-os! com sudários brancos!...
CENA XVIII
O ESPECTRO DE D. MARIA I (louca, furiosa, delirando) Meu pai!... meu pai!... meu pai!... meu pai!... Castigo eterno, chamas do inferno!... Meu pai!... meu pai!... Olha os diabos... olha os diabos... Coriscos os cornos, serpentes os rabos!... Ui! o marquês!... ui! o marquês!... Num caldeirão em brasa, a derreter em chumbo, a ferver em pez! Vão-me coser! já estou a arder! já estou a arder!...
Kirie Eleison! Kirie Eleison! Kirie Eleison! Miserere nobis! ora pro nobis! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Levem a purga!... levem a seringa!... não me quero purgar! Não me quero purgar... não tenho ventre... sou feita de ar... D. Rosa! D. Rosa! ó D. Rosa!!... Acode depressa! anda depressa, que me deitam ao mar!... (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Satanás, zombando, fez um rei de espadas, Fez um rei de espadas com um cão tinhoso; Com o cão tinhoso fez um sapo coxo; Com o sapo coxo fez um porco bravo; Com o porco bravo fez um bode d'ouro; Com o bode d'ouro fez um corvo negro; Com o corvo negro uma galinha doida... Kó-kó-ró-có! Ká-ká-rá-cá?!... A galinha doida que é que parirá?!...
CENA XIX
O ESPECTRO DE D. JOAO VI Toca a sentar! deixa sentar esta carcaça, Já roída do bicho e comida da traça! Um corpo que pesou talvez seus dois quintais, Ou mais, Hoje é isto! olha lá, mira-me bem em torno: Uns vinte arráteis d'osso e outros tantos de corno! P'ra que diabo é que Deus fez a alma imortal, Não me dirão?! O corpo, acho eu natural Que engordasse e medrasse em paz na eterna glória; Mas a alma! ora sebo! Uma alma incorpórea, Sem boca, sem nariz, sem barriga, sem nada, Que não come um leitão, nem funga uma pitada,
Deus me perdoe a asneira, uma endrômina assim, Inda que ele a engenhou, não me convêm a mim! A morrer por morrer, antes a alma; em suma, O desgosto era leve, a perda era nenhuma. E o corpo desalmado, escorreito e perfeito, Esse é que Deus com todo o jeito O devia levar, dando-lhe a eternidade, P'ra comer como um porco e roncar como um frade. Neste mundo em que estou, nesta vida infinita, Grande falta me faz a barriga, acredita! Os miolos, já não... E, caso estranho, agora Penso muito melhor do que pensava outrora... Dão-me ideias! que espiga!... Atribuo tais fatos A andar-me na caveira uma porção de ratos. Ideias!... Qual a ideia humana, por sublime, Que se compare ou se aproxime Dum peru com arroz, bem gordo e bem tostado?! Que é a vida? jantar! E a morte? ser jantado! Comer ou não comer, eis a eterna questão. Mas comer com descanso e com satisfação. Comer em paz; sem um remorso e sem fadigas. Nada de inquietações mortais, nada de brigas! Temor a Deus, mesa de abade, cama quente E rir a gente! Eu fui um infeliz como não há segundo, Um mal-aventurado aos tombos pelo mundo! A mulher uma cabra; os filhos um veneno; Sustos; o hemorroidal, vê lá, desde pequeno! E não parar! sempre em bolandas, sempre à toa... Que vida! E como a vida, apesar disso, é boa! Oh, cantochões em Mafra!... oh, merendas no Alfeite!... Oh, sestas de Queluz em Junho!... Que deleite!... Manda ao demônio a guerra, a mulher e os cuidados! Enfardela-me aí cem milhões de cruzados Em peças d'ouro, assina o que tens de assinar, Veste o capote, leva a coroa e põe-te a andar! Deixa os ingleses... Fracas bestas!... raça vil!...
Muda-te para o Brasil... Muda-te para o Brasil! Fruta maravilhosa e súbditos leais... Eu, no teu caso, até não voltava cá mais. E o povo, adeus!... que se governe... enfim, paciência... E cá lhe fica, que mais quer? a Providência!... Boas noites... É tarde... o sepulcro me chama... Vou-me deitar... Que fria e triste a minha cama! Gelo e chumbo!... Os lençóis, farrapos com matéria, Nem me tapam sequer os ossos, que miséria! E depois sobre mim, em cardumes, aos centos, Pulgas da eternidade, os vermes fedorentos! Ai, no jazigo escuro, a esfarelar-me em pó, Consola-me uma ideia única, uma só: Não tornar a sofrer (oh podridão calada!) Nem de hemorroidas, nem de gases, nem de nada!... (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Que noite escura! Que noite escura! Bramem as ondas cavernosas... A grande armada vai largar... Oh, a armada do rei!... oh, as naus pavorosas Na escuridão, turbilhonando, a balouçar!... São esquifes mortuários, São féretros com velas de sudários, Tumbas negras nas ondas a boiar!... Ai que gemidos, que alaridos De multidões na praia, olhando o mar!... Lá vem o rei... lá vem a corte... e luzes, luzes De brandões, de tocheiros a sangrar... Vai a embarcar?... vai a enterrar?... Não trazem cruzes, Nem há sinos por mortos a dobrar... Oh, a lúgubre, estranha comitiva A bandada de espectros singular!... É gente morta?... é gente viva?... Procissões de defuntos a marchar!...
Cortesãos, cavaleiros e soldados, Tudo esqueletos descarnados, Olhos de treva e crânios de luar!... Ladeiam coches fúnebres dourados... São os coches Del-Rei... vai a enterrar?... Lá se apeiam as damas das liteiras... Gestos de manequins, rir de caveiras... Fitas e plumas soltas pelo ar... Olha a rainha, vem em braços, morta e doida. Morta e doida a clamar que a vão matar!... E o rei!... olhem o rei!... que rei de entrudo!... Um porco em pé, com manto de veludo E coroa na cabeça, a andar, a andar! Mas reparem... tem cornos! é cornudo! Dois chavelhos de boi no seu lugar! Um rei, que é porco e tem chavelhos! Um rei, que é porco e tem chavelhos! Que fantasia! enlouqueci... ando a sonhar!... Mas bem no vejo! eu bem no vejo, Coroa de rei, tromba de porco e chifres no ar!... ................................................. Cai de rastros, chorando, o povo inteiro, Beija-lhe a corte as patas e o traseiro... E ele a grunhir! e ele a roncar!... ................................................. Lá vão as naus... lá vai o rei com seus tesouros... E lá ficam na praia, como agouros, As multidões soturnas a ulular!... ................................................. ................................................. Olha uma águia rubra, uma águia bifronte, Incendiando o horizonte, A voar, a voar, a voar!... Ai dos rebanhos!... ai dos rebanhos!... Águia de extermínios, onde irás pousar?!
CENA XX
O ESPECTRO DE D. MARIA II Inclina um rei perante um rei (somos iguais) A realeza. Perante um vassalo, jamais! O monarca ao monarca (é irmão com irmão) Dobra o orgulho sem infâmia; o rei ao povo, não! Assina, e já! Príncipe vil, que se amedronte, Usa, mas sem direito, um diadema na fronte. Povo em rebelião, não é povo, é canalha. Beija-te os pés? — indulto. Ergue o braço? — metralha. Faltam soldados e clavinas? Pouco importa: El-Rei de Espanha os mandará; tem-los à porta. (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Tremia a rainha de me ouvir cantar... Oh, loucura minha, desventura minha! Cantigas são asas, fazem-nos voar... Mandou-me prender, mandou-me espancar.
E eu desatei a rir, eu desatei a rir, E três dias cantei com mais três noites a seguir!...
Não dormia a rainha de me ouvir cantar... Oh, loucura minha, desventura minha! Cantigas são graças para não chorar... Mandou-me prender, mandou-me enforcar.
Chegaram as tropas e eu, desarmado, Zás! desbaratei-as com o meu cajado!
E pus-me a cantar! e pus-me a cantar!
Tremendo, a rainha disse então ao rei: "Enquanto o não matem não descansarei.
Com teus cavaleiros vai-mo tu buscar, Traz-mo aqui de rastros para o degolar."
Veio o rei à frente dum grande estadão, Zás! desbaratei-o com o meu bordão! É de temer, é de temer Um doido varrido com um pau na mão!...
E sempre a cantar! e sempre a cantar!
Então a rainha, vileza traiçoeira! Chamou inimigos d'além da fronteira... E tantos! e tantos!... Que havia de eu fazer?... Quebrei de raiva o meu bordão e deixei-me prender...
Levado de rastros aos pés da rainha, Cuspiu-me na cara! Oh, vergonha minha! por fortuna minha, Melhor me matara!... melhor me matara!... O gosto que teve durou-lhe bem pouco... Foi ela que morreu!... foi ela que morreu!... Vi-a passar já no caixão, ia a enterrar... E sabeis o que eu fiz? (o que é ser louco!... o que é ser louco!...) Desatei a chorar!...
CENA XXI
O ESPECTRO DE D. LUÍS Que remédio, meu filho! assina tudo... assina tudo... Glória, Pátria, Dever, Bom de dizer! Assina tudo e vai andando... vai andando... Do mister de reinar, que Deus te deu em sorte, Faz, como eu fiz, modo de vida e não de morte. E a vida é boa!
A alegria do sangue, os regalos da Coroa, A mulher, o charuto, o livro, o leito, a mesa, Lista civil, paz e descanso... Com franqueza, A vida é boa, e vale a pena de a gozar, Como néctar precioso e raro, — devagar! Com um pouco de astúcia, um pouco de bondade, Covardia risonha e indolência de frade, Conseguirás viver alegríssimamente Até ser posto de escabeche em São Vicente. E, se o destino te arrancar o cetro, vai-te embora Filosoficamente, sem demora, Dedicando no exílio uns ócios eruditos A traduzir em português os meus escritos... (Vai a sair e retrocede) É verdade, Pedro faltou... faltou... não veio... Pedro! meu pobre irmão! Acordei-o, chamei-o, Quis levantar-se, ergueu a fronte, abriu o olhar, Exalou um suspiro... e tombou a chorar!... (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) O reino é podre... o rei é podre... Oh, que fedor! oh, que fedor! Quando a planta apodrece, a podridão Germina em margaridas pelo chão... Quando apodrece a carne, a sepultura Touca-se de verdura... Lepras e pus, chagas e cancros Dão jasmineiros, dão lírios brancos... Mas do reino e do rei apodrecido, Oh, que fedor! oh, que fedor!... que tem nascido? Mais podridões a fermentar, Envenenando a terra, envenenando o ar. A gente morreu toda envenenada... É cor de sangue a lua, é de crepe a alvorada!... Desfolharam-se os bosques pelos montes, Há nas rochas gangrena, há peçonha nas fontes!
Destruíram-se os ninhos E emigraram, chorando, os passarinhos! Vivo, só eu fiquei neste monturo De lodo escuro! O reino é podre... o rei é podre... tudo é podre... Oh, que fedor! oh, que fedor!...
O REI (volvendo a si, atônito e desordenado) Olho e custa-me a crer!... tonto!... a cabeça vária, À roda... Já nem sei... Que noite extraordinária!... Que noite!... aparições, visões, trovões, um pandemônio De inferneiras, de bruxarias do demônio!... Eu estarei doido ou estou sonhando?!... Que aventura! oh que aventura Monstruosa!... Perco a razão... foge-me a vista... O ladrão do maluco e o diabo do cronista Deram-me volta à cachimônia, esfutricada Já de tanto banzé e de tanta noitada!... Quem pudesse dormir!... (Vendo o pergaminho) Assinemos de vez Esta léria... Assinando e chamando: Marquês! (Aterrado, em altos gritos) Marquês! marquês! marquês! Raios os partam! ninguém ouve... tudo dorme!... Sozinho!!...
O DOIDO (na escuridão) Oh, que fedor!... oh, que fedor!...
O REI Ah, o mostrengo enorme, Eu lhe darei a cantilena!... Para agouros, Quatro estouros à queima-roupa! quatro estouros!
(Surge o espectro de Nuno Álvares, vestido de monge carmelita. O rei desfalece de novo. Os cães investem, mas, diante do olhar sobre-humano do condestável, recuam trêmulos, como obedecendo a um fluído mágico).
O ESPECTRO DE NUNO ÁLVARES Por teus avós chamaste. Um falta ainda, Falta a raiz da árvore de morte, Que em ti, vergôntea exausta, expira e finda.
Oh, miseranda, lastimosa sorte, A deste coração desbaratado, Que outrora se julgou tão puro e forte!
Deu com ele a gangrena do pecado, Qual um bicho escondido que apodrece Um deleitoso fruto embalsamado.
Nada valem tenções, nem vale a prece: É das obras que vem à criatura O galardão e a pena que merece.
Não acuso de ingrata a sorte dura; Volvo-me contra mim unicamente Em meu desassossego e má ventura.
Tamaninho inda eu era, inda inocente, Alma cândida e pura, como a rosa Aberta junto d'água ao sol nascente
Quando uma noite uma visão formosa Me aparece e me diz com voz divina, Ao mesmo tempo clara e misteriosa:
"Li numa estrela d'ouro a vária sina Que a esforçadas, magnânimas empresas E a feitos não obrados te destina.
Mas que valem altíssimas grandezas, Mas que valem as pompas e as vitórias, Se a mundano desejo andarem presas?!
Só da fé, só do bem quedam memórias; Tudo o mais é poeira, um vão ruído, Uns tumultos de sombras ilusórias...
Cavaleiroso coração ardido A grande termo levará seus feitos, Quando ponha em Jesus alma e sentido.
Melhor que duro arnez, defendem peitos Virtude adamantina e graça clara, Com que Deus abroquela os seus eleitos.
Sê casto como a luz beijando a seara, Firme qual entre as ondas o rochedo, Manso como ovelhinha em pedra d'ara.
E, como o sol d'abril veste o arvoredo, D'armas resplandecentes vestirás O teu corpo d'herói, viçoso e ledo.
Só pela Pátria e Deus batalharás. De tua larga mão caiam na terra, Num gesto grande a beatitude e a paz.
Seja neve dos píncaros da serra Teu limpo coração, bondoso e humano, Quer na tranquilidade, quer na guerra.
A tirania ao fim pune o tirano. Contra o injusto volta-se a injustiça, E a maldade é aos maus que faz o dano.
Arreda para longe ódio e cobiça; Contra fero inimigo um bravo alento, Contra amargura e dor alma submissa.
Viva dentro da carne o pensamento, Na pureza da virgem confinada Dentro da cela branca dum convento.
E a carne exultará transfigurada, Qual a nuvem escura em céu ligeiro, Em lhe batendo a luz da madrugada.
De tal guisa, vencendo-te primeiro, A todos vencerás como um leão, Formidável e nobre cavaleiro.
E de Cristo e da Pátria em defensão Brilhará tua lança como um raio, Mandará tua voz como um trovão!"
Assim falou (se me abalou julgai-o!) A graciosa visão, que se desfez Pouco a pouco em suavíssimo desmaio.
Donzel eu era já, quando outra vez As mesmas falas ela, de improviso, Me repete com a mesma candidez.
Todo cheio de lágrimas e riso, Num enlevo quedei, numa ansiedade, Mais que da terra já, do paraíso.
E à celeste, benéfica deidade Jurei suas razões maravilhosas Puramente cumprir e de vontade.
Jurei que nunca minhas mãos culposas Mulher manceba haviam de tocar, Feita que fora de luar e rosas.
Jurei, unido em Cristo à luz do altar, Por batalha de morte a meus desejos E meus vícios da carne assossegar.
Anos do mundo, breves ou sobejos, Fadigações da vida tão mesquinha, Com seus ais, com seu pranto, com seus beijos,
Tudo votei sem pena e bem asinha À cruz do Redentor e à cruz da espada, Ao meu Deus verdadeiro e à pátria minha,
Jurando guardar sempre, e bem guardada, Uma alma pura em natureza pura, Qual em âmbula d'ouro hóstia sagrada.
Ai, de mim! ai, de mim! faltei à jura! Ai, de mim! ai, de mim! por que uma peste Logo te não queimou, língua perjura?!
Ah, donosa visão, visão celeste, Bem devera de ter descortinado Naquelas altas falas que me deste,
Que eu, em vício d'amor sendo gerado, Remiria na carne aborrecida Pela grã penitência o grã pecado.
Madre senhora! ó madre estremecida! Antes ficaras tu noiva e donzela, E eu não abrisse o olhar à luz e à vida!
Ó padre carinhoso! ó madre bela! Vossa culpa caiu no vosso fruto, E, com a culpa amarga, o nojo dela!
Queixa não hei de vós; a mim imputo Lástima e dano, que me só provêm Deste bichoso coração corrupto.
Por vós criado fui, como ninguém; Vós me guiastes com suave jeito, Desde menino a alma para o bem.
Remidor dum pecado eu fora eleito; Assim mo disse a cândida visão, E mo escreveu com lágrimas no peito.
Quando tu, padre meu, alto varão, Mulher me cometeste, logo ansioso Se me agastou, nublado, o coração.
E toda a noite o arcanjo luminoso Repetindo: Não deixes, filho meu, Glória celestial por triste gozo!
E a miséria da carne me venceu! Ó padres! perdoai, chorai comigo, Que o vosso algoz tirânico fui eu!
Eis aqui vosso algoz, vosso inimigo; Por mim no purgatório estais sofrendo, E eu sofro, além do meu, vosso castigo.
Oh, destino cruel! oh, caso horrendo! A livrar-vos da falta me hei proposto, E sou o Judas negro que vos vendo!
Nem para aqui meu transe e meu desgosto. Como de olhar-me, ó sol deslumbrador, Não se te muda em noite a cor do rosto?
Como não gelas, dize, de pavor, Vendo que em fraco peito miserável Cabe tromenta assim de nojo e dor?!
Ó terra triste! ó céu inexorável! Que ventre de mulher pariu um dia Desaventura a esta assemelhável?!
Nobres guerras armei, como cumpria, D'ânimo afoito a rudes castelhanos, Desbaratando-os Deus por minha via.
Contra seu vão furor, contra seus danos, Batalhei desde a alva alegradora, Ao derribado ocaso de meus anos.
Sangue de irmãos verti... Vertido fora Novamente mil vezes, sem piedade, Que alma não é de irmão alma traidora.
Pátria minha gostosa, quem não há de, Em risonho sabor, vida e fortuna Dar por teu livramento e majestade!
Como a de fogo altíssima coluna Vai do povo de Deus na dianteira, A fim que se não perca ou se desuna,
Tal na frente das hostes, sobranceira, Contra duro inimigo acovardado, Tremeu sempre no ar minha bandeira.
É que nela Jesus ia pregado, Jesus, rei das estrelas, rei do mundo, Meu capitão formoso e sublimado.
Ordenara, porém, o céu profundo, Que em tal cometimento era mister Carne sem nódoa e coração jucundo.
E estas mãos (ai do feito em que as puser!) Tocado haviam já, tornadas lama, Com vil desejo, em corpo de mulher.
Fosse a Virgem celeste a minha dama, Se, como Galaaz, herói invito, Alcançar me propunha honrada fama.
Deus castigou-me o coração maldito: Pois que sobre ele ainda vem pesando O carrego mortal do meu delito.
Ó cidadela da pureza, quando Um vício te faz brecha, sem tardança, Prestes os mais acodem galopando.
Em minha carne, um dia honesta e mansa, Por onde entrou luxúria malfazeja, Entrou ira e soberba, entrou vingança.
Inda me sangue o peito lagrimeja da boa e má tenção, que, desvairadas, Armaram nele horrífica peleja.
Oh, pelejas da alma encarniçadas! São as outras uns jogos inocentes, Com o furor das tuas comparadas.
Anjos d'asas de luz resplandecentes, Séculos dia e noite a batalhar Com demônios, com tigres, com serpentes!
Ah, nem ouso de espanto relembrar Essa guerra feroz, que já não arde, Entre meu crime duro e meu pesar...
Tão animoso, nela fui covarde; Tão vencedor, a miúdo fui vencido, E a vitória, se a hei, me chegou tarde.
Uma noite em que mais me vi perdido, Com afincada raiva e crua sanha Dos demônios ardentes combatido.
A visão me ressurge em forma estranha, E em tão grande e mortal melancolia, Que nunca em mim a houve assim tamanha.
Um longo véu de dó ela vestia, Numa tal solidade e desconforto, Que a disséreis a Virgem na Agonia.
Meiga, sem me falar, o olhar absorto
Pousou em mim então, como se fosse Uma madre encarando um filho morto.
No seio me verteu, divina e doce, Lágrima d'ouro, e, com suspiro etéreo, Silenciosa esmaiando, evaporou-se.
Ó lágrima de dor, por que mistério Subitamente ao ânimo torvado Me deste paz, clareza e refrigério?...
Todo eu me senti purificado: Num ditoso sofrer o meu tormento, Numa pena bem-vinda o meu cuidado...
Tal o mísero rei, que vai sangrento De perdida batalha, alfim se lança Em ditoso e profundo acostamento.
Descobrira que a dor é irmã da esperança; E que ao alto perdão, no azul divino, Só a humildade, a rastros, se abalança.
Já liberto de espírito maligno, Com as veras palavras de Jesus Assentei de acordar o meu destino.
De mundanários bens fácil dispus; Que só virtude é ouro, e a mor grandeza Da terra são três pregos numa cruz.
Dentro de mim, numa fogueira acesa, Queimei glória e valor: não ficou nada Mais que melancolia e que tristeza.
Parti a lança; pendurei a espada;
Com bordão de pastor ou de ceguinho, Bem andamos de noite esta jornada.
Fama grande do mundo tão mesquinho, Dando às trombetas com ardor, não voa, Onde voa, cantando, um passarinho.
E onde há, ó meu Jesus, se a dor te coroa, Se é teu vestido sangue e o vinho fel, Pena digna de nós, que bem nos doa?!
Sem escudo, sem cota, sem laudel, Minha triste nudez arrecolhida Numa samarra triste de burel,
Determinei findar miséria e vida Lá em partes inóspitas, distantes, Entre gente comum desconhecida.
Estes olhos, que arderam relumbrantes, Verteriam de dor sangue coalhado, Qual os olhos de Jó verteram dantes.
Estes pés, que no vício hão caminhado, Manariam gangrena, já desfeitos, Como os pés de Jesus Crucificado.
Estes braços, altivos de seus feitos, De lugar em lugar, côdeas de pão Buscariam, rendidos e sujeitos.
E esta abatida alma de cristão, No cárcere da carne prisioneira, À míngua mor, à mor tribulação,
Gostosa sorriria e prazenteira,
Qual o bom lavrador, em velha idade, Sorri festivalmente ao pão na eira.
E, já em Deus o espírito e a vontade, Me acolheria às solidões dum ermo, Na derradeira angústia e pouquidade.
Lá houvera afinal benigno termo, Se, em tão grande, humildosa desventura, Prouvera a meu Jesus de conceder-mo.
Del-Rei me veio o embargo; e na clausura De a que, chorando estrelas, nos conforta, Em silêncio, escondi minha amargura.
Vida do mundo, junto dessa porta, Com o rouco fragor que tudo abala, Aos pés, em sombra vã, me caiu morta.
Dir-se-ia que o mar perdera a fala, E a terra se volvera em nuvenzinha, Bastando um ai de dor a evaporá-la.
Já diversa era ali a pátria minha; Que o trono do meu rei era uma cruz, E o chão, banhado em sangue, o da rainha.
Ó Rainha da Angústia! ó Rei Jesus! Venha a nós esse império onde reinais, Todo amor, todo esperança e todo luz!
Venham a nosso peito os vossos ais! A nossas mãos, ó Cristo, os vossos cravos! Maria, à nossa alma os teus punhais!
Venham a nós as chagas, que são favos!
Venham tua agonia e teu madeiro, A nós, ó Rei do Céu, a teus escravos!
Dias de solidade e de mosteiro Eu os vivi, na temerosa esperança Da alva do meu dia derradeiro.
Esta dor, que abrandou, que se fez mansa, Ali chorou aos ais, como perdida Num deserto, de noite, uma criança.
E oh, alívio da alma arrependida! Quanto mais afincado era o tormento, Mais nos ombros ligeira a cruz da vida!
Como no ar o vento sobre o vento, Como no mar a vaga sobre a vaga, Só na dor tem a dor sossegamento.
E com a folha nua duma adaga Todo eu me prazia em revolvê-la Dentro do coração a hedionda chaga!
Qual as tuas, Jesus, quisera eu vê-la, De purpurina abrir-se numa rosa, De inflamada acender-se numa estrela.
Toda imunda, porém, toda verdosa, Só matéria escorria peçonhenta, Só gangrena letal, cadaverosa.
E eu a escarnava com a mão cruenta, E eu lhe metia, para não sarar, Carvões a arder na boca pestilenta.
Mas a Virgem tristíssima, a chorar,
Lhe derramava, bálsamo divino, O lumioso perdão daquele olhar.
Era assim, irmãmente cristalino, O da visão angélica e suave, Que amistosa me foi desde menino.
E, a tão cândida luz, meu pesar grave Ia alvorando, como rocha bruta, Que pouco a pouco se fizesse em ave.
Já da úlcera ardente, quase enxuta, Manava um soro apenas, filho ainda, De podridão tão negra e tão corrupta.
Hora do livramento, hora bem-vinda, Uma noite, em um sonho d'esplendor, Ma predizeu, chorando, a Virgem linda.
E, abraçando e beijando o Redentor, Sem angústia enfadosa, sem quexume, Dei a alma nas mãos do Criador.
Esbulhada de vício e de azedume, Às regiões celestes foi voando, Como pálida luz solta do lume.
Numa névoa, a boiar, quedou sonhando: Sonho de dor feliz, dor sem memória, Névoa d’antemanhã que vem raiando.
Não era ainda ali perpétua glória; Mas falecera já da vida ausente A remembrança amarga e merencória.
Sono d'alma levíssimo, inocente,
Em músicas de estrelas embalado, Quem o dormir pudera eternamente!
E um véu de lua cheia, engrinaldado, A Virgem desdobrou, em ar divino, Sobre a encantada paz do meu cuidado.
Era uma graça, um bem que eu não defino... Jucundo enlevo... candidez airosa... Num presepe, a sonhar, feito menino...
E uma luzinha ao longe, misteriosa, Cantando-me as canções que me cantava Minha madre no berço, em Frol da Rosa...
Oh, descuidado alívio!... não cuidava Que das culpas do mundo temeroso Esta essência revel jazia escrava.
Deus a espertou do sono deleitoso, E, por mais a punir, inda um momento A banhou, ao de leve, em claro gozo.
Só as estrelas, só o firmamento Recontar poderiam, se quisessem, Meu desvairo, meu nojo e meu tormento!
Convinháveis palavras me falecem, As que as bocas dos homens deitam fora Tribulações daquelas não conhecem.
Lá d'alta estância donde venho agora, Lá donde o Eterno me elegeu pousada, Duzentos anos grandes, hora a hora,
Vi eu, alma em tormento, alma calada, Minha pátria, a meu sangue redimida, Por meu sangue afinal desbaratada!
Por sangue do meu sangue foi traída; Eu que alentos lhe dei, lhe dei nobreza Ao cabo lhe arranquei nobreza e vida!
Os filhos dos meus filhos, oh, tristeza! A danaram com raiva tão medonha, Que nem lobos a hão contra uma presa.
Descendentes da míngua e da vergonha, Réprobos eram, pois é justa a lei Que do cancro mau cria a peçonha.
Faze-os a sina herdeiros do meu rei, Por que um a um no trono dessem conta Deste perdido reino, que eu livrei.
E eu lá daquela altura que amedronta, Sem poder abalar, correr asinha, Vingar com mão sanhosa a dura afronta!
Em vão, oh, dor cruel! oh, dor mesquinha! Alevantava súplicas piedosas, À dos anjos tristíssima Rainha!
Ela vertia lágrimas formosas... E nasciam estrelas como flores, Canteiros de boninas e de rosas...
Porém, Deus era surdo a meus clamores! Mais pesavam meus crimes na balança, Que os teus olhos de luz, ó Mãe das Dores!
Tal um peito rasgado duma lança, Que em torvação eterna agonizara, Sem alívio, sem morte e sem esperança!
Ó filha! ó anjo pulcro! ó alva clara! Antes em leda e tenra meninice Uma víbora má te envenenara!
Antes boca de monstro te engolisse, E daquele erro o fruto miserando Teu ventre criador nunca o parisse!
Vozes tais eu gemia, senão quando Ouço como o ruir duma montanha, Como um trovão de súbito estourando!
Deus arrasara a nobre flor da Espanha! Nem a Virgem do Carmo em seu mosteiro O defendeu de cólera tamanha!
Virgem do Carmo! vê-la num braseiro, Misturada com pedras e destroços, Vê-la eu! seu algoz, e seu coveiro!!...
A igreja, que por mor dos olhos vossos Alevantei, ó Virgem da Piedade, Minha infâmia a ruiu contra os meus ossos!
Grito d'alma naquela imensidade Tão agudo expedi subitamente, Que fez branca de dor a Eternidade!
Assim horrenda, assim direitamente, Em quejanda e cruel desaventura Não foi posto no orbe um ser vivente!
Já dois séculos idos de amargura, Acreditei que enfim o Criador Houvera dó da triste criatura:
Do meu sangue de lástima e de horror Cavaleiroso príncipe foi nado, Qual nasce duma campa ebúrnea flor.
Ah, o nobre donzel, d'olhar fadado, A imagem de mim mesmo era talvez, Quando isento do vício e do pecado.
Risonha aurora em noite se desfez... Breve expirou, qual expiraram breve Dentro em mim a virtude e a candidez.
Não perdoa o Eterno a quem lhe deve: De culpa grande a ofensa lhe devia, E o castigo aturado, o julgou leve.
Minha dor empenosa acabaria Com teu acabamento e sorte infanda, Último rei de infanda dinastia.
Criatura nojenta e miseranda! Ó vítima final! já na procela Descubro o raio, a arder, que Deus te manda!
E a pátria! o meu amor! a pátria bela!... Em que míngua eu a vejo!... Quem a abraça, Quem vai lidar até morrer por ela?!...
Já o mundo a meus olhos se adelgaça!... Montes, fraguedos, tudo se evapora... São nuvens... sonho... sombra vã que passa...
Quase liberto já!... não tarda a hora... Sorri-me a Virgem!... como vem brilhante!... Deus! quanta luz!... que mar de luz! que aurora!... (Queda enlevado, extático, sobre-humano. Irradia ouro. Descortina, súbito, numa panóplia, a velha espada de Aljubarrota. O gládio heroico entre cutelos de verdugos! Como eximi-lo à afronta, se já mãos de eleito não devem tocar em ferros homicidas! Embora! Arranca-o, beija-o, ergue-o na destra, e, da varanda, olhando a noite, em voz soturna de trovão) Cavaleirosa espada relumbrante! Se nesse lodo amargo um braço existe De profeta e de herói, que te alevante!
Inda bem que na lâmina persiste, Em crua remembrança e galardão, Do sangue fraternal a nódoa triste.
Descobre o gládio a quem o houver na mão, Que ante a justiça reta e verdadeira, Não há padre, nem madre, nem irmão!
Porém, se a pátria, já na derradeira Angústia e míngua onde a lançou meu dano, Terra d'escravos é, terra estrangeira,
Rútila espada, que brandi ufano! Antes um velho lavrador mendigo Te erga a custo do chão, piedoso e humano!
Volte à bigorna o duro aço antigo; E acabes, afinal, relha de arado, Pelos campos de Deus, a lavrar trigo. (Arrojando a espada ao abismo da noite) Deus te acompanhe! Seja Deus louvado! (Desaparece. O rei fica no chão, imóvel e sem acordo)
CENA XXII O espectro de Nuno Álvares atravessa, resplandecendo, a escuridão noturna. Enxerga a distância, o vulto fantástico do doido. Para, surpreendido. Contemplam-se.
O ESPECTRO DE NUNO ÁLVARES (melancólico, fitando o doido) Se esta alma, há três séculos gemendo, Em carne humana andasse, e, dia a dia, A perdição da pátria fora vendo,
No semblante de louca amostraria Aquela dor soturna e tenebrosa, Aquele olhar de pasmo e de agonia!...
O DOIDO (absorto) Oh, que figura estranha e luminosa!... Que aparição aquela!... E eu já a vi... eu já a vi... lembro-me dela... Mas onde foi?... Cabeça tonta!... Onde seria?!... Ah, ah, já me recordo!... quando eu vivia, Tive assim um parente... um irmão... Um irmão? Eu nunca tive irmão!... Oh, que loucura! oh, que loucura! Mas eu conheço este fantasma... esta figura... Aquele ar singular de guerreiro e de monge... Eu conheço-o... Mas onde foi?... quando é que foi?... lá muito ao longe... Muito ao longe... Ora espera!... Já sei! Não era irmão, não era!... Fui eu próprio!... Fui eu assim!... Fui eu! fui eu! fui eu! É tal e qual... é exato, O meu retrato!... Fui eu!... Ah, fui eu... um outro eu... que andou no mundo e já morreu!...
CENA XXIII Corre, de braços abertos, para o espectro, que subitamente se evapora. Relâmpago abrasador. Trovão medonho. Chovem os raios no castelo. O incêndio, num minuto, veste-o de lavaredas fabulosas. Estrondos de explosões, derrocamentos de muralhas, gritos de angústia, alaridos de pânico.
O DOIDO (triunfante, num regozijo de criança, vendo as lavaredas a brilhar)
Olha o palácio a deitar chamas dos telhados!... A arder!... a arder!... Lá arde o rei, o trono, a corte, os cães... Ah, cães danados, Ides morrer queimados! Tudo a arder!... tudo a arder!... Que lavaredas! Que esplendor! Ai, que alegria! Parece dia!... Vão os galos cantar E trinar, de surpresa, a cotovia!... Rolos de fumo em sangue pelo ar... Desabamentos... vigamentos a estourar... Oh, que fogueira!... oh, que fogueira!... Ai, que alegria! Que chamas d'ouro relumbrantes!... Andem vê-las... Olha a subirem para o céu milhões de estrelas. Tantas estrelas, tantas, tantas, Que o castelo abrasado Vai-nos deixar o céu azul todo estrelado! Ó lavaredas d'ouro! ó lavaredas santas! Subi! subi! subi!... dai luz e dai calor!... Vós que não tendes fogo em vossas casas, (Que lindas brasas! que lindas brasas!) Vinde assentar-vos e aquecer-vos ao redor! Oh, surdi de tropel, em alcatéias, Miseráveis, famintos, vagabundos! Surdi das tocas negras das aldeias, Dos matagais profundos, Das pocilgas, dos antros, das cadeias, E em turbamulta, em debandada, aos milhões, aos milhões, Vinde aquecer as mãos neste braseiro, Vinde aquecer as mãos, vinde aquecer os tristes corações!... Já vai florir nas sebes o espinheiro, Já vão florir nas bocas virgens as canções!... Dobram os sinos... dobram os sinos... Deixa dobrar! Foi Deus que deitou fogo àquilo tudo... Quem no há de apagar?!... Repica os sinos, meu sineiro campanudo,
106
Que à volta da fogueira as moças todas vão bailar!... E eu vou ter, que prazer! Mal sabeis... mal sabeis o que eu vou ter!... A minha alma! a minha alma!... nova... nova, Como um sol de aleluia a refulgir! Ela estava ali presa numa cova... Ardeu o rei, ardem os cães... e vai fugir!
(O incêndio devorou o palácio. Ardeu tudo: mármore e madeira, rei e cortesãos, ouros e brocados, alfaias e baixelas. Salvaram-se os cães; nada mais. De entre os escombros, fumegando, ergue-se religiosamente, em ascensão eucarística, um vulto angélico de mulher. O corpo é de luar de opala, a túnica de luar de neve, e os olhos, fundos e dolentes, de luar de lágrimas. Peito manando sangue, olhos chorando estrelas, caminha suspensa, direita ao doido, num sonambulismo vago e melancólico. Pousa em terra, com a graça aérea dum arcanjo. É a alma do doido. Trezentos anos sem se verem! Contemplam-se. Como estão mudados!...)
O DOIDO (em frente da alma, já recuperando a lucidez) Ó alma vagabunda, alma exilada, Eis teu corpo infeliz, tua triste morada: Vê, que abandono e que pobreza! Ninguém te espera! nem candil na escada, Nem banquete na mesa! Vens transida de frio a tiritar?... Não há lume no lar! Vens morta de miséria e de aflição?... Não há vinho, nem pão! Vens fatigada repousar?... Porém, Não há leito também! Tua casa deixaste, Teu albergue natal desamparaste, Numa noite d'horror... E os ventos e as procelas Desmantelaram portas e janelas, Desmoronaram tetos com furor...
Restam negras paredes lastimosas Do teu ninho d'amor!... Há cardos na varanda em vez de rosas, Luto e morte nas salas pestilentes... Na alcova onde dormias, (Oh, mal dirias! mal dirias!) Hoje dormem as corujas e as serpentes!... E tu, ó alma triste, alma exilada, Branca, da alvura mesta dos sudários, De que prisões, de que galés, de que calvários, Vens a rastros assim crucificada! Quem te cobriu de lágrimas e sangue? Quem trespassou teu coração exangue De tanta dor e tanta punhalada?! Regressas ao teu lar, alma divina, Para morrer aqui; E no teu lar contemplas uma ruína, E ele uma sombra em ti!... Entra no lar... entra no túmulo... descansa, Alma pobre, varada de amarguras, Alma sem fé e sem esperança! Entra no lar abandonado... entra às escuras... Deita-te a um canto sonolentamente, E extinta e muda, vulto vago, informe, Nunca mais abras teu olhar silente, Dorme! repousa eternamente... dorme!
A alma embebe-se-lhe no corpo.
Alma a expirar, clarão sombrio, Por que vieste Iluminar um túmulo vazio?!... Por que vieste Ressuscitar de novo, inda um momento, A poeira do meu nada?!... Antes o vento
A sacudisse inânime e delida Na eterna paz do eterno esquecimento! Memória! espelho fúnebre da vida, Porque me vens de súbito trazer A apagada, a esquecida Imagem tormentosa do meu ser! Que despertar medonho Da caótica noite do meu sonho!... Antes o sonho louco, o sonho vão! Cavaleiro magnânimo de outrora, Contempla o teu retrato... olha-o agora... Nem a ti próprio te conheces, não! E és tu, és tu, ó cavaleiro antigo, Este pálido e trôpego mendigo, Este mendigo ensanguentado e nu!... Nem semelhança leve achas contigo? Repara bem... repara bem... és tu!... (Num ímpeto de orgulho e de vanglória) E astros do céu, povos da terra, ondas dos mares, Viram passar, como uma águia ovante, O meu pendão quimérico nos ares! Retumbaram meus feitos de gigante Pelo universo, em ecos seculares! Cavaleiro e argonauta vagabundo, Gravaram sobre terra e mar profundo Mil roteiros de luz os passos meus, Como se houvera circundado o mundo, Listrando-o a fogo, o Espírito de Deus! Minha abrasada crença visionária, Medindo o globo inteiro, achou-o estreito... E a alma da humanidade, imensa e vária, Numa maré de assombros, tumultuária, Bateu um dia junta no meu peito! Vinham bandos de frotas portentosas Páreas de reis trazer-me alegremente: Maravilhas estranhas, caprichosas,
De longínquas cidades fabulosas, Berços d'ouro do sol resplandecente!... Nas mil torres, mais altas do que a Fama, Do meu empório vasto olhando o mar, Via-se o globo e a cruz como auriflama, E sobre globo e cruz, d'asas de chama, Minha epopeia homérica a cantar!... Ah, do sono da morte enregelado Por que havias de, ó alma, despertar?!... Que é da grandeza heroica do passado, Que é das torres d’outrora olhando o mar?!... Blocos no chão, vestidos d'heras, Ameias, gárgulas, esferas, Poeiras de sonhos, de quimeras, Luto, nudez, desolação, Eis os restos de tantos extermínios, De tanta dor e tanta maldição!... Já nem cabe sequer em meus domínios À magra sombra vã do meu bordão! Régios palácios, fortalezas, Mosteiros, campas, catedrais, Orgulhosos padrões de mil empresas, Conspurcados de lama e de impurezas, Entre montes de entulho e silveirais! Meus impérios distantes divididos, Minha terra natal inculta e só!... Loucos de dor, em torvos alaridos, Correm bandos de aldeões espavoridos, Miseráveis tropéis de luta e dó... Por mim passam atônitos, julgando Ver um monstro maldito, Um espectro soturno e formidando... Da escuridão do nada ressuscito... Abro os olhos na treva... estendo as mãos... E de mim fogem com horror, clamando, Meus parentes, meus filhos, meus irmãos...
Deus, onde estás?!... Deus! a mentira eterna!... Algum lobo voraz, Mais piedoso que o céu que nos governa, Pode emprestar-me um antro, uma caverna, Onde se durma e se agonize em paz?!... (Ao cabo dum longo e meditativo silêncio) Oh justiça do Espírito divino, Pensando bem, bem clara te revelas Na trágica lição do meu destino! Minhas glórias passadas!... É por elas, Que eu hoje estou sofrendo e me crimino! Minhas glórias!... infâmias e vergonhas De ladrão, de pirata e de assassino! Que bárbaras, que atrozes, que medonhas, A escorrer sangue negro e pestilento, As vejo em torno a mim neste momento, Essas glórias nefandas, que eu supus D'ouro e de luz! A epopeia gigante! Empresas imortais! feitos sublimes! Grandeza louca dum instante... Miséria eterna... meus eternos crimes! Novos mundos eu vi, novos espaços, Não para mais saber, mais adorar: A cobiça feroz guiou meus passos, O orgulho vingador moveu meus braços E iluminou a raiva o meu olhar! Não te lavava, não, sangue homicida, Nem em mil milhões d'anos a chorar!... Cruz do Gólgota em ferro traduzida, Minha espada de herói, ó cruz de morte, Cruz a que Deus baixou por nos dar a vida; Vidas ceifando, desumana e forte,
Ergueste impérios, subjugando o Oriente, Mas Deus soprou... ei-los em nada... E te cravou a ti, vermelha espada, Nesta alma de lobo eternamente! Ó espada de dor, abre-me o peito! Rasga de lado a lado o coração! Rasga-o, meu Deus, e torna-mo perfeito, Que eu te bendigo e louvo e me sujeito, Sem uma queixa, aos golpes da tua mão! Seja feita, Senhor, tua vontade, Venha o remorso igual à iniquidade, Deus de justiça e luz, Deus de perdão! Nunca nascido houvera o resplendor Do dia, em que no abeto milenário Pus o gume do aço com furor!
Antes aparelhara o meu calvário, Antes a minha tumba silenciosa Com o tronco do roble funerário!
Antes mil vezes, do que a aventurosa Barca ligeira, que levou seu guia Dos desastres à praia fabulosa!
E, a meus golpes cruéis, eu bem ouvia Uma alma no roble que chorava, Um coração lá dentro que gemia!
Um coração de avô que perdoava, Só com ais de amargura respondendo A cada novo golpe que eu lhe dava.
Eu os traduzo hoje, eu os entendo, Os merencórios ais vaticinantes Das lágrimas de fel que estou bebendo!
À sombra de teus ramos verdejantes, Ó árvore formosa, bem quisera Adormecer eu inda como dantes!...
Não abatessem minhas mãos de fera O teu corpo sagrado, roble augusto, Patriarca da lei vestido de hera!
Fosse eu ainda o camponês adusto, Lavrador matinal, risonho e grave, D'alma de pomba e coração de justo!
Sentisse eu inda a música suave Da candura feliz no peito agreste, Qual em rórida brenha um trino de ave!
Em vez do mundo (fome, guerra e peste!) Conquistasse, por única vitória, Os tesouros sem fim do amor celeste.
Nunca de feitos meus cantasse a História; Ignorasse o meu nome a voz da Fama E a minha sombra humilde a luz da Glória.
Vivesse obscuro e triste, erva da lama; Nas alturas, porém, fosse contado Entre os que Deus aceita, os que Deus ama.
No mundo, bicho ignoto e desprezado; Mas, nos reinos da luz adamantina, Um cavaleiro grande e sublimado. (Cai-lhe o livro das mãos. Erguendo-o e beijando-o com fervor) E contudo, alma infame e libertina, Em teu horror, esquálido e sangrento, Uma luz existiu, que era divina!
Uma luz existiu, que num momento Fez o dia mais claro e mais jucundo, Pôs mais cerca da terra o firmamento!
Ó lira d'ouro que abalaste o mundo! Sonho d'astros!... ó fúlgida epopeia! Canta, dá vida nova ao moribundo!
Da cólera do Eterno a maré cheia, Naus, barbacãs, palácios, de imprevisto Levou tudo nas ondas, como areia...
Levou tudo nas ondas... ficou isto! Ficou na mão exangue a lira d'ouro, E é por ela existir que eu inda existo!...
Lira de Orfeu! meu único tesouro! Bem como a voz do mar enche uma gruta, Encheu o azul teu canto imorredouro!
Pudesse eu, d'alma livre e resoluta, Olhos no fogo da manhã nascente, Erguer ainda os braços para a luta!
Não, como outrora, para a luta ardente Da riqueza e grandeza, que é vaidade... Da fortuna, que é sombra que nos mente...
Seja a hora do prélio a Eternidade! E o globo estreito a arena, onde não cansa A batalha do Amor e da Verdade!
Cavaleiro de Deus, ergue-te e avança! Põe na bigorna os cravos de Jesus; Bate-os cantando... É o ferro da tua lança!
Faz a hástia da lança duma cruz; Vai, cavaleiro, de viseira erguida, Dá lançadas magnânimas de luz!...
E hão de estrelas sangrar de cada ferida, Que em rosários, ardendo, chorarão Uma a uma no Gólgota da Vida.
Ah, sonho de esplendor, que sonho em vão! Põe os olhos em ti, alma de hiena, Em teu rebaixamento e escuridão!...
Como nascer em pútrida gangrena, Sob os olhos de Deus, a flor de encanto, Vaso de ideal, a mística açucena!
Como? chorando; derretendo em pranto As máculas do crime; e o criminoso, Vestido de esplendor, ficará santo.
A Dor, a eterna Dor, eis o meu gozo. O pão do meu banquete, cinza escura, E o meu vinho jovial, fel amargoso.
É a Dor quem liberta a criatura: Ou em miséria humana ande encarnada, Ou em tigre feroz ou rocha dura.
Oh, abrasa-me a alma envenenada, Faz em carvão meu coração perverso, Dor temerosa, Dor idolatrada,
Ó Dor, filha de Deus, mãe do universo!
(Longo silêncio. Transe-lhe a alma, de repente, um frêmito de angústia. Adivinha no escuro, marchando, a Fatalidade inexorável. Suor de Agonia. Com um ai cruciante)
A hora grande, a hora imensa, Já por um fio está suspensa... Não tarda muito que ela dê!... Carne medrosa, por que tremes?... Ó alma ansiosa, por que gemes?... Por quê?!... Arde na Dor, carne maldita! Revive em Dor, alma infinita! Na Dor bendita espera e crê!...
(Marcha de tropel, na escuridão, um bando de corsários, gigantes espadaúdos e membrudos, rosto sanguíneo, cabelos de ouro fulgurando. Entoam, epilépticos de álcool, uma canção infrene e vagabunda. Relampeiam as armas, à claridade vermelha dos archotes. O andar é deliberado e resoluto, como o de quem trilha, às escuras, uma vereda já sabida. É que na dianteira, a escaminhá-los, Iago e Judas trotam sombrios e ofegantes. Um dos marinheiros, brincando, meteu o Veneno no bolso. Os cães, pelo instinto, levam a horda temerosa em direção ao doido. Apenas o descobrem, estacam de súbito, ladrando raivosos e covardes, como a dizer: — Ei-lo! Aí o tendes. — O velho herói, pálido de morte, fita-os soberanamente desdenhoso. Rodeiam-no, tumultuando e clamorando. Brilham adagas, lâminas frias de cutelos. Deitam-lhe algemas, dão-lhe bofetões, insultam-no, mascarram-no de lodo, cospem-lhe na cara. E a face do herói sobre-humanamente resplandece, como zurzida por estrelas. Em meio de chufas e labéus o arrastam ao alto da montanha, onde a cruz negra e sanguinolenta lhe estende os braços para a Dor. Com vilipêndio o desnudam, por escárnio lhe cingem uma tanga de cafre, e, a marteladas truculentas, desumanos o pregam no madeiro bárbaro. Ao topo da cruz, desenhada a sangue, esta ironia: — Portugal, rei do Oriente! — Expele o seio do mártir um ai agudo, lança angustiosa de varar infinitos. E a Dor o exalta, a Dor o diviniza: É de alabastro o corpo macerado, as longas barbas ondeantes de luar choroso, e os olhos fundos e proféticos, duas cavernas de noite, com estrelas. À volta, os verdugos tripudiam e cantam. Bocas aguardentadas rugem blasfêmias e sarcasmos. Atiram-lhe pedras, que se convertem em rosas. Atiram-lhe esterco, e chegam-lhe lírios e açucenas. Os cães, furibundos, pulam em vão, desaustinados, a ver se o mordem; e, insaciáveis, abocanham o toro do madeiro, lambendo avidamente o sangue fresco a gotejar. Depois, escumantes de raiva, ladram à cruz, hienas possessas e diabólicas. Varreu a tormenta. A noite desmaia. Já os aventureiros, levando os cães, embarcam na galera. Os olhos do moribundo pairam em volta, suplicantes. Cemitério deserto. Ninguém. Campos revoltos, carcavões tenebrosos, ossadas de penedias, um castelo derruído fumegando, esqueletos de gente em esqueletos de árvores, terra de pavor, terra de morte, onde a única vida, bruxoleante, é uma agonia numa cruz. Quase a expirar, soltando um gemido)
Pranto, que manas dos meus olhos, Bendito és! Bendito és, porque és o mar de pranto Que os meus crimes verteram pelo mundo... Sangue a correr das minhas feridas, Bendito és! Bendito és, porque és o mar de sangue Do meu orgulho e minha iniquidade...
(Súbito, numa visão interior, descobre em roda dele as nações armadas, cerco de lobos à volta duma presa. Já no estertor, agonizando) Deus! abandonas-me!...
(Expira. Clareia, roxa, a manhã de novembro, triste lençol de misericórdia, a que limpassem forcas ou calvários. Um aldeão senil e vagabundo, caminha ao longe, tropegamente, como um fantasma, em direção à cruz. Roto, cheio de lama e de sangue, no bordão aos ombros uma taleiga, e, escondida no peito, aninhada nos braços, uma criancinha forte e luminosa. Velho e doente, perdeu-se de noite na debandada trágica, não alcançou o navio, já o não enxerga... onde irá ele!... onde irá ele!... Por montes e mares circundeia os olhos, enublados de horror, desorbitados de loucura... Ninguém! ninguém! ninguém! Campos desertos, ondas sem uma vela, e nos bosques, mirrados, sem uma folha, carcaças pútridas... ninguém!... Dum povo exilado ficara ele só, cadáver ambulante, espectro bisonho, a chorar num ermo, com o seu netinho nos braços. Aproximando-se da cruz, reconhece o doido, o estranho doido inofensivo, que a horas mortas vagueava, ululando, por cerros e quebradas, e a quem ele tantas vezes, benignamente, dera agasalho e dera pão. Quem o crucificou?!... Por que seria?!... Mete medo e respeito... Que estatura de homem!... que gigante!... Morto, semelha um Deus!... E, fronte descoberta, — Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres... — E os olhos da criança devoram a cruz, estrelas inocentes, cheias de angústia e cheias de alma... Há naquele olhar uma inconsciência misteriosa, que adivinha... Luz enigmática, vem de longe, do fundo do passado, morrendo ao longe, em sonho, nas obscuridades do porvir... Esse velho fantasma, com esse menino ao colo, lembra a derradeira árvore dum bosque, árvore nua e carcomida, com uma florinha última no tronco. Flor de morte!... flor de esperança!... Nasceu dum cadáver, e dela se hão de gerar, talvez, os rumorosos bosques de amanhã!... O aldeão, assombrado, meio louco, procura o castelo do rei... evaporou-se... já o não avista. Em frente, na montanha, só lavaredas e ruínas. Vai descendo, descendo, descendo, e lá ao fundo estaca de improviso, inclina-se, e vê no chão, abandonada, uma arma guerreira. É o montante de Nuno Álvares. Empolga-o a custo. Os braços da criancinha estendem-se com avidez, numa alegria doida... Nobre montante, qual o teu destino? Sulcarás, relha de arado, a gleba deserta desse camponês? Nas mãos dessa criança, um dia homem, brilharás acaso, espada de fogo e de justiça? Mistério... mistério... Invisivelmente, saudando a luz, as cotovias gorjeiam...)
RESUMO PATRIÓTICO
Um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de misérias, sem uma rebelião, um mostrar de dentes, a energia dum coice, pois que nem já com as orelhas é capaz de sacudir as moscas; um povo em catalepsia ambulante, não se lembrando nem donde vem, nem onde está, nem para onde vai; um povo, enfim, que eu adoro, porque sofre e é bom, e guarda ainda na noite da sua inconsciência como que um lampejo misterioso da alma nacional, — reflexo de astro em silêncio escuro de lagoa morta;
Um clero português, desmoralizado e materialista, liberal e ateu, cujo vaticano é o ministério do reino, e cujos bispos e abades não são mais que a tradução em eclesiástico do fura-vidas que governa o distrito ou do fura-urnas que administra o concelho; e, ao pé deste clero indígena, um clero jesuítico, estrangeiro ou estrangeirado, exército de sombras, minando, enredando, absorvendo, — pelo púlpito, pela escola, pela oficina, pelo asilo, pelo convento e pelo confessionário, —força superior, cosmopolita, invencível, adaptando-se com elasticidade inteligente a todos os meios e condições, desde a aldeola ínfima, onde berra pela boca epiléptica do fradalhão milagreiro, até à rica sociedade elegante da capital, onde o jesuitismo é um dandismo de sacristia, um beatério chique, Virgem do tom, Jesus de high-life, prédicas untuosas (monólogos ao divino por Coquelins de fralda) e em certos dias, na igreja da moda, a bonita missa encantadora, — luz discreta, flores de luxo, paramentos raros, cadeiras cômodas, latim primoroso, e hóstia glacée, com pistache, da melhor confeitaria de Paris;
Uma burguesia, cívica e politicamente corrupta até à medula, não discriminando já o bem do mal, sem palavra, sem vergonha, sem caráter, havendo homens que, honrados na vida íntima, descambam na vida pública em pantomineiros e sevandijas, capazes de toda a veniaga e toda a infâmia, da mentira à falsificação, da violência ao roubo, donde provêm que na política portuguesa sucedam, entre a indiferença geral, escândalos monstruosos, absolutamente inverossímeis no Limoeiro.
Um exército que importa em 6.000 contos, não valendo 60 réis, como elemento de defesa e garantia autonômica.
Um poder legislativo, esfregão de cozinha do executivo; este criado de quarto do moderador; e este, finalmente, tornado absoluto pela abdicação unânime do país, e exercido ao acaso da herança, pelo primeiro que sai dum ventre, — como da roda duma lotaria.
A Justiça ao arbítrio da Política, torcendo-lhe a vara a ponto de fazer dela um saca-rolhas.
Dois partidos monárquicos, sem ideias, sem planos, sem convicções, incapazes, na hora do desastre, de sacrificar à monarquia ou meia libra ou uma gota de sangue, vivendo ambos do mesmo utilitarismo céptico e pervertido, análogos nas palavras, idênticos nos atos, iguais um ao outro como duas metades do mesmo zero, e não se amalgamando e fundindo, apesar disso, pela razão que alguém deu no parlamento, — de não caberem todos duma vez na mesma sala de jantar;
Um partido Republicano, quase circunscrito a Lisboa, avolumando ou diminuindo segundo os erros da monarquia, hoje aparentemente forte e numeroso, amanhã exaurido e letárgico, —água de poça inerte, transbordando se há chuva, tumultuando se há vento, furiosa um instante, imóvel em seguida, e evaporada logo, em lhe batendo dois dias a fio o sol ardente; um partido composto sobretudo de pequenos burgueses da capital, adstritos ao sedentarismo crônico do metro e da balança, gente de balcão, não de barricada, com um estado maior pacífico e desconexo de velhos doutrinários, moços positivistas, românticos, jacobinos e declamadores, homens de boafé, alguns de valia mas nenhum a valer; um partido, enfim, de índole estreita, acanhadamente político-eleitoral, mais negativo que afirmativo, mais de demolição que de reconstrução, faltando-lhe um chefe de autoridade abrupta, uma dessas cabeças firmes e superiores, olhos para alumiar e boca para mandar, — um desses homens predestinados, que são em crises históricas o ponto de intercepção de milhões de almas e vontades, acumuladores elétricos da vitalidade duma raça, cérebros onímodos, compreendendo tudo, adivinhando tudo, — livro de cifras, livro de arte, livro de história, simultaneamente humanos e patriotas, do globo e da rua, do tempo e do minuto, forças supremas, forças invencíveis, que levam um povo de abalada, como quem leva ao colo uma criança;
Instrução miserável, marinha mercante nula, indústria infantil, agricultura rudimentar.
Um regime econômico baseado na inscrição e no Brasil, perda de gente e perda de capital, autofagia coletiva, organismo vivendo e morrendo do parasitismo de si próprio.
Liberdade absoluta, neutralizada por uma desigualdade revoltante, — o direito garantido virtualmente na lei, posto, de fato, à mercê dum compadrio de batoteiros, sendo vedado, ainda aos mais orgulhosos e mais fortes, abrir caminho nesta porcaria, sem recorrer à influência tirânica e degradante de qualquer dos bandos partidários.
Uma literatura iconoclasta, — meia dúzia de homens que, no verso e no romance, no panfleto e na história, haviam desmoronado a cambaleante cenografia azul e branca da burguesia de 52, opondo uma arte de sarcasmo, viril e humana, à frandulagem pelintra da literatura oficial, carimbada para a imortalidade do esquecimento com a cruz indelével da ordem mendicante de São Tiago.
Uma geração nova das escolas, entusiasta, irreverente, revolucionária, destinada, porém, como as anteriores, viva maré dum instante, a refluir anódina e apática ao charco das conveniências e dos interesses, dela restando apenas, isolados, meia dúzia de homens inflexos e direitos, indenes à podridão contagiosa pela vacina orgânica dum caráter moral excepcionalíssimo.
E se a isto juntarmos um pessimismo canceroso e corrosivo, minando as almas, cristalizado já em fórmulas banais e populares, — tão bons são uns como os outros, corja de pantomineiros, cambada de ladrões, tudo uma choldra, etc. etc., — teremos em sintético esboço a fisionomia da nacionalidade portuguesa no tempo da morte de D. Luís, cujo reinado de paz podre vem dia a dia supurando em gangrenamentos terciários.
O advento do materialismo burguês, inaugurado pela ironia céptica do Rodrigo, acabava pela galhofa cínica do Mariano. O riso de sibarita, levemente amargo, desfechava no riso canalha, de garotão de aljube. O patusco terminava em malandro.
A burguesia liberal, merceeiros-viscondes, parasitagem burocrática, bacharelice ao piano, advogalhada de São Bento, morgadinhas, judias, sinos, estradas, escariolas, estações, inaugurações, locomotivas (religião do Progresso, como eles diziam), todo esse mundo de vista baixa, moralmente ordinário e intelectualmente reles, ia agora liquidar numa infecta débâcle de casa de penhores, num AlcácerQuibir esfarrapado, de feira da ladra.
A nação, como o rei, ia cair de podre.
O conflito inglês e a revolução brasileira, dois cáusticos, puseram a nu, de improviso, toda a nossa debilidade orgânica, — miséria de corpo e miséria de alma.
Falecimento e falência. Ruínas. Montões de vergonhas, trapos de leis, cisco de gente, lama de impudor, carcaças de bancos, famintos emigrando, porcos digerindo, ladroagem, latrinagem, um salve-se quem puder de egoísmos e de barrigas, derrocada dum povo numa estrumeira de inscrições, —700 mil contos de calote público, a bela colheita do torrão português, regado a ouro, a libras, desde 52 até 90.
A crise não era simplesmente econômica, política ou financeira. Muito mais: nacional. Não havia apenas em jogo o trono do rei ou a fortuna da nação. Perigava a existência, a autonomia da pátria. Hora grande, momento único. A revolução impunha-se. Republicana?
Conforme. Se o monarca nos saísse um alto e nobre caráter, um grande espírito, juvenil e viva encarnação de ideal heroico, tanto melhor. A revolução estava feita. Imprimia-se, dum dia ao outro, no Diário do Governo.
Mas feita com quem, perguntarão, se tudo era lodo? Feita com o elemento moço do exército e da marinha, com quase todo o partido Republicano, com individualidades íntegras e notáveis dos partidos monárquicos, com a juventude das escolas, com um sem-número de indiferentes por nojo e por limpeza, com os duzentos homens de sério valor intelectual dispersos nas letras, nas ciências, no comércio e na indústria, e com o povo, o povo inteiro, que acordaria, Lázaro estremunhado, da sua campa de três séculos, à voz dum vidente, ao grito dum Nuno Álvares.
O português, apático e fatalista, ajusta-se pela maleabilidade da indolência a qualquer estado ou condição. Capaz de heroísmo, capaz de cobardia, touro ou burro, leão ou porco, segundo o governante. Ruge com Passos Manuel, grunhe com D. João VI. É de raça, é de natureza. Foi sempre o mesmo. A história pátria resumese quase numa série de biografias, num desfilar de personalidades, dominando épocas. Sobretudo depois de Alcácer. Povo messiânico, mas que não gera o Messias. Não o pariu ainda. Em vez de traduzir o ideal em carne, vai-o dissolvendo em lágrimas. Sonha a quimera, não a realiza.
O próprio Pombal é o Desejado? Não. Fez-se temer, não se fez amar. Cabeça de bronze, coração de pedra. Moralmente, ignóbil. Rancoroso, ferino, alheio à graça, indiferente à dor. Inteligência vigorosa, material e mecânica, sem voo e sem asas. Um brutamontes raciocinando claro. Falta-lhe o gênio, o dom de sentir, nobreza heroica, vida profunda, —humanidade, em suma. Máquina apenas. Não criou, produziu. A criação vem do amor, a gênese é divina. Criar é amar. Por isso a obra lhe foi a terra. Pulverizou-se. Só dura o que vive. Uma raiz esteia mais que um alicerce. Pombal em três dias, num deserto, quis formar um bosque. Como? Plantando traves. Adubou-as com mortos e regou-as a sangue. Apodreceram melhor.
Sei muito bem que o estadista não é o santo, que o grande político não é o mártir, mas sei também que toda a obra governativa, que não for uma obra de filosofia humana, resultará em geringonça anedótica, manequim inerte, sem olhar e sem fala.
A ductilidade, quase amorfa do caráter português, se torna duvidosas as energias coletivas, os espontâneos movimentos nacionais, facilita, no entanto, de maneira única, a ação de quem rege e quem governa. Cera branda, os dedos modelam-na à vontade. Um grande escultor, eis o que precisamos.
Há, além disso, bem no fundo deste povo um pecúlio enorme de inteligência e de resistência, de sobriedade e de bondade, tesouro precioso, oculto há séculos em mina entulhada. É ainda a sombra daquele povo que ergueu os Jerônimos, que escreveu os Lusíadas. Desenterremo-la, exumemo-la. Quem sabe, talvez revivesse!
Fora o rei um homem, que a nacionalidade moribunda se levantaria por encanto. E bem se me dava a mim da questão política, da forma de governo. Essencial, a forma do governante. Prefiro uma boa república a uma boa monarquia. A coroa de rei, de pais a filhos transmissível, como a coroa de Vênus; o trono hereditário como as escrófulas, — absurdo evidente. Mas se de absurdos anda cheio o mundo! Salta-se menos da majestade à excelentíssima que da excelentíssima ao tu. Impero eu mais no meu criado que o rei em mim. Há em cada burguês uma monarquia. Milhões de burgueses, milhões de absurdos. E eliminam-se acaso numa hora?
Não se tratava por enquanto de modalidades orgânicas de existência; tratava-se de existir. Problema social e problema político marchariam evolutivamente na órbita ininterrupta do seu destino. Quando um vapor alagado vai ao fundo, discute a marinhagem construções navais? Primeiro salvá-lo, o estaleiro depois. Quer dizer: a revolução urgente não era social, nem política, era moral. Nem havia a escolher entre monarquia e república, pois que, para escolher entre duas coisas, é necessário existirem, e a república, tanto custava a realizar, que ainda até hoje a não fizemos.
A segurança da pátria exigia inadiavelmente à frente do governo um homem de superior inteligência, de altivo caráter, de ânimo heroico e resoluto. Era-o D. Carlos? obedeceríamos a D. Carlos. Uma alma, uma vassoira e uma carroça; de nada mais precisava. Varrer, limpeza geral, por isto decente! Tal embaixador levantara castelos de milionário com o dinheiro da nação? Transferi-lo de embaixada: representante vitalício do Limoeiro em África. Tal ex-ministro compra as quintas, vendendo a vergonha? Penhora e prisão. Os bens ao erário, o corpo à penitenciária. Deslaçar grã-cruzes e chumbar grilhetas. Norte e Leste, lamas do Tejo, Banco Lusitano, obras do estado, etc., etc., todas essas montureiras gangrenadas, — poios de escândalos, obscenamente fermentando ao ar livre, — queimá-las a calcium, purificá-las a vitríolo. Calcamos infâmias, respiramos veneno. Que um ciclone de justiça nos purificasse o ar e desentulhasse as estradas. Caminho livre, atmosfera nova! Quem baldeou o país à ruína, à miséria do lar, à indigência da alma? Idiotas? Aposentá-los em onagros. Bandidos? Metê-los na cadeia.
E a questão econômica? Resolvida por si. Direi mais: útil e necessária. Mas resolvida de que forma? Pelo sacrifício de todos, pela abnegação coletiva. As pátrias, como os indivíduos, só se regeneram sofrendo. A dor é salvadora. Não há virtude sem martírio, não há Cristo sem cruz. A Redenção vem da Paixão. A vida fortalece-se na angústia. Nem só a do homem, a vida inteira, a vida universal. A procela avigora o roble, e o ferro candente adquire a têmpera, mergulhando-o em gelo. Quando a desgraça parece matar uma nação, é que tal nação estava morta. O cáustico, que levantou o doente, decompõe o cadáver.
Resumindo: desastres, misérias, vergonhas, infortúnios, calamidades, subjugadas com energia e padecidas com nobreza, enseivariam de novo alento o coração exânime da pátria. O raio lascou a árvore? Brotaria, amputada, com maior violência. A alma habita na raiz.
Mas seria possível conjurar quatro milhões de interesses, quatro milhões de egoísmos, num ímpeto de fé heroica e de renúncia? Era. Digo-o sem hesitar. O sibarita que ria, o cevado que ronque. Era! O espírito, como o fogo, consome traves, calcina pedras, derrete metais. O facho duma alma pode incendiar uma Babilônia. Um iluminado pode abrasar um império. Tem-se visto. O cofre-forte é de ferro, a libra é de ouro, o egoísmo é de bronze, mas a eletricidade impalpável, invisível, imponderável, volatiliza tudo num momento. Ora o espírito é a eletricidade de Deus. Nada lhe resiste. Devora séculos, evapora mundos. Jesus e Buda, — um crucificado, o outro mendigo, — refazem o globo, põem nova máscara à criação. Joana d'Arc e Nuno Álvares, irmãos gêmeos, redimem duas pátrias. Focos ambulantes de espírito divino, arrastam e vencem, — magnetizando. O céu é contagioso como a lepra.
Claro que o milagre exige a fé. Nem todos os sábios juntos escreveriam os evangelhos. A língua do homem, sem a língua de fogo, não apostoliza, discursa. Um Doutor não é um Messias.
A metempsicose, em moderno, do grande Condestável, eis o meu sonho. Um justiceiro e um crente. Braço para matar, boca para rezar. Pelejas como as de Valverde só se ganham assim: ajoelhando primeiro. O Nuno Álvares de hoje não usaria cota, nem escudo, mas, ao cabo, seria idêntico. A mesma chama noutro invólucro. Não combateria castelhanos, combateria portugueses. O inimigo moranos em casa. Aljubarrota no Terreiro do Paço e os Atoleiros... nos mil atoleiros de infâmias que enodoam as ruas, e obstruem o trânsito. Queríamos um justo inexorável, um santo heroico, com a verdade nos lábios e uma espada na mão. Os quadrilheiros que infestam Lisboa e os sub-quadrilheiros que infestam as províncias, anulá-los, esmagá-los num dia, numa hora, sem pena e sem remorso, vazando-os logo, — atascadeiro de baixezas, lodo de malandros, — pelo buraco infecto duma comua. Depois pregar a tampa. Um coletor in pace, um cano de esgoto jazigo de família.
E, removidos os focos epidêmicos, voltaria em breve a saúde geral. A obra de reconstrução, inda que lenta, marcharia sem estorvo. Humanizar o ensino, nacionalizar a indústria, um clero português e cristão, a justiça fora da política, o exército fora de São Bento, os burocratas para a burocracia, o professorado para as escolas, o poder legislativo entregue às forças independentes e vivas do país, arrotear o solo, colonizar a África, — tudo era possível, tudo era simples, desde que nos dessem uma fé, uma crença, vida luminosa, — uma alma!
Alma! eis o que nos falta. Porque uma nação não é uma tenda, nem um orçamento uma bíblia. Ninguém diz: a pátria do comerciante Araújo, do capitalista Seixas, do banqueiro Burnai. Diz-se a pátria de Herculano, de Camilo, de Antero, de João de Deus. Da mera comunhão de estômagos não resulta uma pátria, resulta uma pia. Sócios não significa cidadãos. O burguês estúpido, perante as calamidades que nos assaltam, computa-as em libras, redu-las a dinheiro. Parece que se trata duma mercearia em decadência. Dívida flutuante, impostos, câmbios, cotações, alfândegas, cifras, dinheiro, nada mais. A ruína moral não entra na conta nem por um vintém. Deve e há de haver, eis o problema. Direito, Justiça, Honra, Pundonor, — palavras! Se o gigo das compras andasse farto e os negócios corressem, podiam encafuar Jesus Cristo na penitenciária e sua Mãe no aljube, que a récua burguesa, dizendo-se católica, não se moveria. O câmbio estava ao par.
Falir um banco, que desastre! Falir uma alma... — Mas que demônio é isto de falir uma alma? —
Ouve lá, burguês rotundo. Um exemplo. Ouviste já nomear por acaso o Fialho de Almeida? Vagamente. Ora bem; esse Fialho é a mais rica natureza artística que Portugal tem gerado há duas dúzias de anos. Um talento grande, rutilando em gênio por instantes. Em gênio, sim. Leiam os Pobres, o Filho, a Velha, o Idílio triste. Natureza de sensibilidade vibrátil, agudíssima, quase mórbida. Depois português, idolatrando o seu Alentejo, adorando a sua pátria, instintivamente, organicamente, como a raiz adora a terra.
A uma tal natureza, em Lisboa, de 90 a 93, hora a hora assistindo à decomposição putrefata daquela percevejaria nausente, não lhe era lícito o refúgio nirvânico dos metafísicos ou dos hábeis na decantada torre de marfim. O Fialho estava pobre e o marfim muito caro. Índole ardente e valorosa, palpitante de plebeísmo robusto, de humanidade sanguínea, olvidou planos de arte, sonho alado, quimera astral, e de chicote nas unhas, mordaz e mordendo, arremeteu contra a fandangagem da sociedade lisboeta, como alguém que marchando direito a um nobre destino, se atirasse de repente às ondas, aventurando a vida, — para salvar um bêbado.
Entre os projetos literários do admirável artista, um havia mais que todos acariciado e fecundo, os Cavadores, rústico poema, síntese sublime da vida da terra, da planta e do camponês, obra de fisiologista, de psicólogo e de poeta, reçumando sangue, transpirando lágrimas, drama tangível e real, movendo-se numa atmosfera enigmática de infinito e de sonho. Um livro elevado. Lisboa rasgou-lho. Em troca deu-lhe os Gatos. Dum poeta épico fez isto: um varredor da Baixa. O Fialho durante três anos varreu o Chiado, espiolhou a Havanesa, catou São Bento. Os trapos converteram-no em trapeiro. A águia baixou a milhafre. O milhafre é útil, depura e limpa. Os Gatos foram, em parte, uma obra de justiça, por vezes de cólera. Mas o rancor dos bons denota ainda bondade. Só os grandes idealistas desceram a grandes satíricos. Cristo dava chicotadas.
Nos Gatos estoura de quando em quando um rugido de tigre. É o melhor do panfleto. O resto, tirante algumas páginas literárias, maravilhosas, descamba na insignificância, — cisco, anedotas, noticiário, zero. O estilo não basta. Uma melancia em bronze não deixa de ser uma melancia. Os Gatos têm valor moral e valor de arte. Mas este é relativo, e portanto inferior, e aquele ineficaz, e por tanto menos proveitoso. Varrer Lisboa nos Gatos, acho bem; varrê-la no Diário do Governo, acharia ótimo. Conclusão: o desmantelamento da sociedade portuguesa atuou no espírito impressionável dum grande poeta, esterilizando-lhe a gênese da obra humana, imorredoura, e fecundando-lhe a semente da obra particularista e transitória. Desviou do seu curso natural a água límpida que regava plátanos e searas para com ela inundar estrumeiras e desentupir esgotos.
Bom burguês, compreendes agora o que é a falência dum espírito? Calcula, pois, em dois milhões de consciências, o déficit moral, a ruína interior, que os teus guarda-livros não escrituram nas agendas. Perdeste dinheiro, meu rico homem, na quebra fraudulenta dum banco? O Fialho e nós perdemos os Cavadores na quebra fraudulenta duma nação. O prejuízo maior foi o nosso. O nosso, o da pátria. Porque é mister que to diga, bom burguês: sem o banco de Portugal ficaríamos pobres 30 anos. Mas sem os Lusíadas ficaríamos pobres para sempre. As libras voltam. O gênio não se repete. Por isso, burguês odioso, te não lamento. Mais ainda: regalam-me às vezes, Deus me perdoe, os teus desastres, lembrando-me que só te levantarás honradamente, quando se te der, de fome, um nó nas tripas! Idiota! Nem egoísta és. Vês apenas dinheiro, e hão de deixar-te sem camisa. Inda bem. Só nu ficarás decente.
Continuemos. A nação, mais do que de libras, carecia de alma. Quem lha daria? Quem a tivesse como o sol tem luz: infinita. Pobre D. Carlos! Que havia de ele dar, — mediocridade palúrdia, já aos 25 anos atascado no sebo dinástico, nas banhas brigantinas! Alma? Bem alma, não; quase, pequena diferença: lama. Uma inversão de duas letras. Ligeiro lapso, cuja emenda é esta: Viva a república!
O rei falhara. Nulo, insignificante. Pedir-lhe gênio, heroísmo, grandeza, sublimidade, — o mesmo que pedir astros a uma couve ou raios a uma abóbora.
A existência da pátria dependia da revolução. O rei não pode, não soube, ou não quis fazê-la. Em suma, não a fez. Perdeu-se. Que restava? Fazê-la o povo. Não a fazendo, perdia-se também.
O rei, em vez de cortar o cancro, identificou-se com ele. Chaga maior, operação mais grave. Já ninguém suprimirá o cancro, sem suprimir a realeza.
O Republicanismo não é aqui uma fórmula de direito público; é a fórmula extrema de salvação pública. No prédio em chamas há só uma janela aberta. Preferem os monárquicos morrer queimados, por a janela estar pintada de vermelho? Fosse ela branca, que eu saltaria sem escrúpulos.
Republicano e patriota tornaram-se sinônimos. Hoje quem diz pátria, diz república. Não uma república doutrinária, estupidamente jacobina, mas uma república larga, franca, nacional, onde caibam todos. Não dum partido, da nação. Presidente o melhor. Foi por acaso miguelista? Embora. Uma revolução por seleção de caracteres.
Tal movimento cívico, espiritualizado e grande, requeria pelo menos um homem. Existe? Existiu: José Falcão.
José Falcão! Alma tão nobre de patriota não a conhecerei jamais. A ideia de pátria, feita verbo, nela encarnara divinamente. Hóstia sublime! Trigo de comunhão deu-nos a fé, e trigo de viático, na hora da nossa morte, dá-nos ainda a esperança.
À volta de mim vejo monturos, dentro de mim encaro cinza. Tudo acabou, não é verdade? Melancolicamente revolvo a cinza, poeira de quimeras, e uma flâmula fulge, uma brasa crepita... É a alma dele... Não quer apagar-se. Mesmo dentro de nós, túmulos cerrados, continua ardendo. Amanhã de tais campas podem brotar ainda lavaredas.
Grande homem! Como o sangue em momento de pânico reflui de chofre ao coração, dir-se-ia que na hora suprema toda a alma da pátria naquela alma se ajuntara.
Em José Falcão a inteligência era robusta, a ciência enorme, mas a grandeza moral incomparável e soberana. Dizia o que pensava, fazia o que sentia. Um justo. Portanto, um solitário. Querendo viver puro, viveu em si mesmo. Isolou-se. Nem ambicioso, nem vaidoso. Nos altos píncaros, de gelo e de luz, não há micróbios.
Egoísta intelectual? Nunca. Ânimo generoso, os problemas sociais cativaram-no. A sociedade evitou-a. Livros e família: cérebro pensando, coração amando.
Mas o sentimento da pátria com tal furor e febre lhe girava no sangue, tão inato e profundo lhe ardia lá dentro, que aquele homem de ideias instantaneamente se volveu, como por milagre, em homem de ação. O ruído molestava-o; procurou o ruído. A turba incomodava-o; procurou a turba. Agitou-se três anos em movimento frenético. Pátria! Pátria! a visão constante, o sonho de toda a hora! Fogo sagrado, fogo devorador. Queimou-se, abrasou-se nele. Autode-fé dum corpo nas lavaredas duma crença.
O patriotismo tornara-se em José Falcão um misticismo. Compreende-se bem. Ideia tão inflamável, em tão candente natureza moral sublima-se, ilumina-se, perde-se no êxtase, no enlevo, no transcendentalismo religioso. Aquele homem exalava de si o quer que fosse de sobrenatural e de divino. Sentia-se que no grande momento arriscaria tudo: família e vida, fortuna e lar. Através do crente apercebia-se o herói. Por isso arrastava. A eloquência vinhalhe espontânea, dominadora, magnética. Não a eloquência literária dos artistas. Eloquência de alma, verbo interior, luz de uma chama.
Depois naquele homem tudo era português, sóbrio, simples, varonil, vernáculo: figura, gesto, palavra, entonação, modo de vestir, maneira de andar. Tudo beirão, tudo nosso. Nem um galicismo. Austero e risonho, violento e meigo, — a singeleza na grandeza. Lembrava ainda o Condestável. Como ele, espírito heroico, braço de ferro para o comando, boca de santo para a piedade.
Extenuado e letárgico, pressentindo a morte, nunca desanimou. Pois a doença da pátria não era ainda bem mais grave? Por ela sim, desejaria viver, desejaria morrer. A força física abandonava-o, só a vontade sobre-humana o tinha de pé. Era já uma existência feita de ressurreições, um ideal galvanizando um cadáver.
Dizia-nos ele, quase no fim: Não duro muito; aproveitem-me.
Morria daí a meses.
Não há uma íntima e dolorosa afinidade entre a alma quebrantada dum povo, baldadamente, durante séculos, evocando um Messias, e a breve aparição dum redentor, miragem súbita, que mal se desenha se desfaz?
Tal a árvore-espectro, frutos de aurora sonhando, caveiras torvas produzindo, que um dia gerou, milagre de amor! o pomo de ouro deslumbrante, e o viu desprender, esbroando em cinza, do galho nu, do ramo estéril de esqueleto...
Árvore noturna, a morte gira-te nas veias, e os frutos de Ideal que tu concebes já trazem no âmago, quando nascem, as larvas deletérias do sepulcro...
Desiludido, assim o creio por vezes. Depois a um golpe de sol, o Quixote revive, exalto-me de novo, de novo espero... Florinha azul, beijo de Deus, — divina Esperança...




Guerra Junqueiro




ATORES: UM DOIDO O REI MAGNUS (Duque de São Vicente de Fora) OPÍPARUS (Príncipe d'Ouro Alegre) CIGANUS (Marquês de Saltamontes) ASTRÓLOGUS (Cronista-mor de el-rei) IAGO (Antigo cão de fila, dentes podres, obeso, gordura flácida) JUDAS (cão mestiço de lobo, corcunda, sarnento, olhar falso, injetado de bílis) VENENO (fraldiqueirito anão, ladrinchador e lambareiro).
PÁTRIA Noite de tormenta. Céu caliginoso, mar em fúria, ventanias trágicas, relâmpagos distantes. O castelo do rei à beira-mar. Sala de armas. Nos muros, entre panóplias, os retratos em pé da dinastia de Bragança. Agachados ao lume, os três cães familiares de el-rei, — Iago, Judas, Veneno. Entram Opíparus, Magnus e Ciganus. Sentam-se, afagando os cães. Magnus pousa na mesa um pergaminho com o selo real. É o tratado com a Inglaterra.
PÁTRIA Noite de tormenta. Céu caliginoso, mar em fúria, ventanias trágicas, relâmpagos distantes. O castelo do rei à beira-mar. Sala de armas. Nos muros, entre panóplias, os retratos em pé da dinastia de Bragança. Agachados ao lume, os três cães familiares de el-rei, — Iago, Judas, Veneno. Entram Opíparus, Magnus e Ciganus. Sentam-se, afagando os cães. Magnus pousa na mesa um pergaminho com o selo real. É o tratado com a Inglaterra.
#
#
#
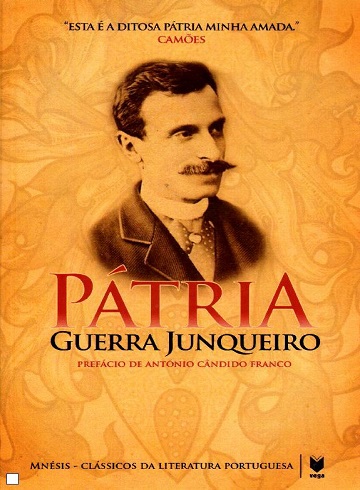
#
#
#
CENA I CIGANUS (apontando o pergaminho e rindo) Necrológio a assinar pelo defunto!
MAGNUS (com gravidade) É urgente: Salvamo-nos...
OPÍPARUS (acendendo um charuto)
Perdendo a honra... felizmente! Inda bem! inda bem! vai-se a ária das Quinas...
MAGNUS (convicto) Glorioso pendão sobre um castelo em ruínas...
OPÍPARUS O pendão! o pendão!... um trapo bicolor, A que hoje o mundo limpa o nariz... por favor.
CIGANUS Enquanto a mim, que levem tudo, o reino em massa, Pouco importa; o demônio é que o levem de graça. Mas agora acabou-se!... e, em lugar de protesto, Vejamos antes se o ladrão nos compra o resto... Um bom negócio... hein?!... manobrado com arte...
OPÍPARUS (soprando o fumo do charuto: Dou por cem libras, quem na quer? a minha parte...
MAGNUS (grandioso) Quando d'ânimo leve o príncipe assim fala, Não se queixem depois que a dinamite estala, Nem se admirem de ver o país qualquer dia Na mais desenfreada e tremenda anarquia! Prudência! haja prudência, ao menos, meus senhores... É grave a ocasião... gravíssima!... Rumores De medonha tormenta andam no ar... Cuidado! Não desânimo, é certo... Um povo que deu brado, Uma nação heroica entre as nações do mundo, Há de viver... É longo o horizonte e é fecundo!... Creio ainda no meu país, na minha terra!... Guardo a esperança...
OPÍPARUS Bem sei, no Banco de Inglaterra... A esperança e dois milhões em ouro, tudo à ordem... Não é isto?...
MAGNUS (embaraçado) Exagero... exagero... Concordem... Sim, concordem... pouco me resta e pouco valho... Mas o suor duma vida inteira de trabalho... Economias... bagatela... um nada... era mister... No dia d'amanhã, com filhos, com mulher... Entendem, claro está... era preciso, enfim, Segurança... Não me envergonho... Enquanto a mim, Posso falar de cara alta... o meu passado...
OPÍPARUS Se é mesmo a profissão do duque o ser honrado! É o seu modo de vida, o seu ofício... Creio Que é daí... que é daí que a fortuna lhe veio: Ninguém lho nega... O duque é dos bons, é dos puros... E a virtude a render, a dignidade a juros Acumulados... Francamente, eu noto, eu verifico Que era caso de estar muitíssimo mais rico... O duque foi modesto: a honra de espartano Não a deu nem talvez a dois por cento ao ano!
MAGNUS (sorrindo constrangido) Má língua!...
CIGANUS (com seriedade irônica: O nosso duque a ofender-se... que asneira! O príncipe graceja... histórias... brincadeira... À honradez do duque, inteiriça e maciça, Todo o mundo lhe faz a devida justiça... Mas vamos ao que importa, — ao bom pirata inglês...
MAGNUS El-rei assinará?... o que julga, marquês?
OPÍPARUS El-rei nesse tratado é rei como Jesus, E, portanto, vão ver que o assina de cruz.
CIGANUS Sem o ler. Quem dúvida? Assinatura pronta! Paris vale uma missa e Lisboa uma afronta. E, em suma, concordemos nós que um mau reinado, Por um bom pontapé, fica de graça, é dado. A el-rei amanhã nem lhe lembra. Tranquilo, Dormirá, jantará, pesará mais um quilo. Uma boia de enxúndia; um zero folgazão, Bispote português com toucinho alemão.
OPÍPARUS Sensualismo e patranha, indiferença e vaidade, Gabarola balofo e glutão, sem vontade, Às vezes moralista, (acessos de moral, Que lhe passam jantando e não nos fazem mal) Eis el-rei. Um egoísmo obeso, alegre e louro, Unto já de concurso e de medalha d'ouro. Termina a dinastia; e Deus, que a fez tamanha, Põe-lhe um ponto final de oito arrobas de banha... Laus Deo!
MAGNUS Que má língua! El-rei, coitado! uma criança, Nem leve culpa tem nos encargos da herança... Não se aprende num dia a governar um povo... E em casos tais, em tal momento, um homem novo, Habituado à lisonja, habituado ao prazer... Maravilhas ninguém as faz... não pode ser!... El-rei é bom! El-rei é um espírito culto, Ilustrado... Não digo, enfim, que seja um vulto, Um talento, uma coisa grande de espantar; Mostra, porém, cordura, o que não é vulgar...
Cordura e senso... Eu falo e falo com razão... Não minto... sou cortês, nunca fui cortesão! Duque e plebeu... vim do trabalho honrado que mágoa... Não lisonjeio o povo e não adulo a Coroa. Os defeitos del-rei?... Não me custa o dizê-lo: Eu quisera maior interesse... maior zelo... Mais idade, afinal... Deixem correr os anos, E hão de ver o arquétipo exemplar dos soberanos.
OPÍPARUS (sorrindo: Ingênua hipocrisia, duque... Olhe que el-rei Conhece-nos a nós, como nós a el-rei...
CIGANUS Sabem? Dá-me cuidado el-rei... dá-me cuidado... Melancolia... um ar de nojo... um ar de enfado... Sem comer, sem dormir, não repousa um minuto, E é raríssima a vez que ele acende um charuto.
OPÍPARUS Indício bem pior: há já seguramente Três dias que não vai à caça e que não mente. Ora, se el-rei não mente e não fuma e não caça, É que não anda bom, não anda...
MAGNUS Que desgraça! Pudera! hão de afligi-lo, e com toda a razão, As tremendas calamidades da nação. Cada hora um desastre, um infortúnio... Eu cismo, Eu olho... e vejo perto o cairel dum abismo!
OPÍPARUS Oh, nunca abismo algum tolheu el-rei, meu amo De aldravar uma peta ou de caçar um gamo.
CIGANUS E depois o cronista-mor, tonto e velhaco, A insinuar-lhe, a embeber-lhe endrôminas no caco, Telepatias, bruxarias, judiarias Do Livro das Visões, Sonhos e Profecias. O que vale é que el-rei, um gordo hereditário, Pesa demais para profeta ou visionário. Não me assusta...
MAGNUS (confidencial) Marquês... dum amigo a um amigo! Entre nós... fale franco: a ordem corre perigo?... O mal-estar... desassossego... uma aventura... Os quartéis... Diga lá: julga a Coroa segura?...
CIGANUS Segura e bem segura. Equivocar-me hei, No entretanto, parada feita: jogo ao rei! Neste lance... No outro... A inspiração é vária, E bem posso mudar para a carta contrária.
OPÍPARUS De maneira que apenas eu, sublime idiota, Guardo fidelidade ao rei nesta batota! Alapardou-se em mim o dever e a virtude! Quando o trono de Afonso Henriques se desgrude, Eu cá vou com el-rei... Isto da pátria e lar É boa fêmea, bom humor e bom jantar, O ditoso torrão da pátria!... que imbecis! No globo não há mais que uma pátria: Paris. A nossa então, que choldra! Infecta mercearia, Guimarães, Policarpo, Antunes, Braga & Cia! Um horror! um horror! Não temam que proteste, Se emigrando me vejo livre de tal peste. Fico por lá... não torno mais... fico de vez... O que é preciso é bago... Ora, você, marquês, Adorável canalha e salteador galante, Não me deixa embarcar el-rei como um tunante, El-rei que vai viver por cortes estrangeiras, Sem duas dúzias de milhões nas algibeiras... Eu sou trinchante-mor, e conservo o lugar, Havendo, claro está, faisões para trinchar!...
MAGNUS (imponente) Incrível! No momento grave em que a Nação Dorme (ou finge dormir!) à beira dum vulcão, Nesta hora tremenda, hora talvez fatal, Há quem graceje como em pleno carnaval! E assim vamos alegremente, que loucura! Cavando a todo o instante a própria sepultura... No dia d'amanhã ninguém pensa, ninguém! Os resultados vê-los hão... caminham bem... Divertem-se com fogo... Olhem que o fogo arde... E extingui-lo depois (creiam-me) será tarde... Já não é tempo... As lavaredas da fogueira Abrasarão conosco a sociedade inteira! A mim o que me indigna e ruborisa as faces É ver o exemplo mau partir das altas classes, Sem se lembrarem (doida e miserável gente!) Que as vítimas seremos nós... infelizmente! Não abalemos, galhofando, assim à toa, A égide do cetro, o prestígio da Coroa! Quando a desordem tudo infama e tudo ameaça, A Realeza é um penhor...
CIGANUS Destinado a ir à praça. Questão d'anos, questão de mês ou questão d'hora, Segundo ronde a ventania lá por fora... Observemos o tempo... anda brusco, indeciso... Não arme o diabo algum ciclone d'improviso!... O trono, defendê-lo enquanto nos convenha; Depois... trono sem pés já não é trono, é lenha. Queima-se; e no braseiro alegre a chamejar Cozinhamos os dois, meu duque, um bom jantar!...
O duque a horrorizar-se!... Eu conspiro em segredo... Pode ouvir, pode ouvir... duque, não tenha medo! A república infame, a república atroz, Uma bela manhã será feita por nós, Meu caro duque!... E o presidente... Ora quem... ora quem, duque de S. Vicente?!... O duque! Não há outro, escusado é lembrar!... Um prestígio europeu... a independência... o ar... Não há outro!... d'arromba!... à verdadeira altura!... Todas as condições, todas... até figura! Parece um rei! que nem já sei como se move Com as trinta grã-cruzes...
MAGNUS (lisonjeado) Upa!... trinta e nove!
CIGANUS Trinta e nove grã-cruzes, ahn! no mesmo peito... Caramba, duque!... é bem bonito... é de respeito! E o povo gosta, deixe lá... De mais a mais Duque e plebeu...
MAGNUS (com dignidade: Não me envergonho de meus pais! Filho dum alfaiate... Honra-me a origem!...
CIGANUS Sei... E nobreza tão nobreza é que a não dá el-rei. Nobreza d'alma! Enfim, meu duque, nem pintado Se encontraria igual para chefe do Estado! Queira ou não queira, pois, o meu ilustre amigo...
MAGNUS (solene) Eu lhe digo, marquês... eu lhe digo... eu lhe digo... Devagar... devagar... Um problema importante, Que exige reflexão, maturação bastante...
Sou monárquico... Fui-o sempre!... Inda hoje creio O trono liberal o mais sólido esteio Do Progresso e da Paz e a melhor garantia Da justa, verdadeira e sã Democracia. Não precisamos outras leis... Há leis à farta! Executem-nas!... Basta executar a Carta! Cumpram as leis!... Dentro da Carta, realmente, Cabem inda à vontade o futuro e o presente... É este o meu critério... e já agora não mudo!... Honrosas convicções, filhas dalgum estudo E muitas brancas... Mas, enfim, se as loucuras alheias... Desvairamentos... circunstâncias europeias... Derem de si em conclusão regime novo, Acatarei submisso os ditames do Povo! Monárquico e leal... no entretanto, marquês, Antes de tudo, sou e serei português!! Ao bem da Pátria em caso urgente, em horas críticas Não duvido imolar opiniões políticas! Darei a vida até, quando preciso for!!
CIGANUS El-rei que chega...
MAGNUS (curvando-se) Meu Senhor!
CIGANUS Meu Senhor!
OPÍPARUS Meu Senhor!
CENA II Os mesmos e o rei.
(Os três cães acodem festivos ao monarca)
O REI (sombrio e melancólico, repelindo os cães) Que noite!
CIGANUS Vendaval furioso!
OPÍPARUS Noite rara Para uma ceia de champanhe e mulher cara...
O REI Faz-me nervoso a noite...
MAGNUS É da atmosfera espessa... Elétrica... Atordoa e desvaira a cabeça...
O REI (apontando o pergaminho) O tratado?
CIGANUS O tratado.
MAGNUS Um pouco duro... El-rei...
O REI (indiferente) Seja o que for... seja o que for... assinarei... (Vai ao balcão, ficando abstrato, a olhar a noite).
MAGNUS Não há dúvida; el-rei anda enfermo... é evidente...
OPÍPARUS Galhofeiro, jovial, bom humor permanente, Cético, dando ao demo as paixões e a tristeza, Caçador, toureador, conviva heroico à mesa... Pobre do rei... quem o diria!... que mudança! Oxalá que a loucura, a vir, lhe venha mansa...
CIGANUS O ratão do cronista é que o tem posto assim, Com mistérios em grego e aranzéis em latim... Trovão formidável.
O REI (voltando do balcão) Que noite!
MAGNUS Uma trovoada enorme!... Causa horror!...
(Ciganus desdobra o pergaminho e vai ler o tratado).
O REI Leitura inútil... Deixa lá... Seja o que for... Seja o que for... adeus!... assinarei...
CIGANUS Perfeito. Não há balas? Resignação; não há direito. Se entra no Tejo de surpresa um couraçado, Quem vai metê-lo ao fundo, quem? A nau do Estado Com bispos, generais, bacharéis, amanuenses, Pianos, pulgas, mangas d'alpaca e mais pertences? A esquadra? vai a esquadra real, um meio cento De alcatruzes, bides e banheiras d'assento? Sacrificar a vida à honra? Acho coragem, Mas a honra sem vida é de pouca vantagem; Não se goza, não vale a pena. A vida é boa... Defendamos a vida... e salvemos a Coroa.
MAGNUS (eloquente) E salvemos a Coroa! A vida eu dá-la-ia Pela honra da Pátria e pela Monarquia! Somos filhos de heróis! mas nesta conjuntura A resistência é um crime grave, uma loucura! Um país decadente, isolado na Europa, Sem recursos alguns, sem marinha e sem tropa, Tendo no flanco, alerta, o velho leão de Espanha, Arrojar doidamente a luva à Grã-Bretanha, Oh, pelo amor de Deus! digam-me lá quem há de Assumir uma tal responsabilidade?!!... A pátria de Albuquerque, a pátria de Camões Abolida era enfim do mapa das nações! Guardemos nobremente uma atitude calma! Recolhamos a dor ao íntimo da alma, E o castigo do insulto, o prazer da vingança A nossos netos o leguemos, como herança! Que Deus há de punir (é justiceiro e é bom) A moderna Cartago, a triunfante Albion! Saiba, porém, El-rei que o brio português O defendemos nós ante o leopardo inglês, À força de critério e sisuda energia, No campo do direito e da diplomacia! Com as Instituições por norte e por escudo, Fizemos tudo quanto era possível! — tudo!!
OPÍPARUS (ao rei, galhofando) Quer o duque dizer que ambiciona o colar Do Elefante Vermelho e do Pavão Solar...
MAGNUS (com indignação e nobreza: Não requeiro mercê tão grandiosa e tão alta, Conquanto seja ela a que ainda me falta. O Elefante e o Pavão! Um colar e uma cruz A que somente os reis e os príncipes têm jus! Não ouso... Mas, se um dia a grã munificência Da Coroa houver por bem, (florão duma existência!)
Conceder-ma!... Que, deixem-mo explicar: eu, medalhas e fitas, Não é por ser vaidoso ou por serem bonitas, Que as ostento... Plebeu nasci, de bom quilate... Não o escondo a ninguém: meu pai era alfaiate. Ora, num peito humilde e franco uma medalha, Como que atesta e diz ao homem que trabalha, Ao povo que moureja em seu ofício duro, Que hoje na monarquia é dado ao mais obscuro Guindar-se à posição mais alta e mais egrégia, Por direito, — que é nosso! e por mercê, — que é régia! Escritura de luz que em vivo amplexo abarca O Povo e a Soberania augusta do Monarca!
CIGANUS Meu caro duque, muito bem... Vamos agora, Resolvida a questão, assinar sem demora O pergaminho...
O REI Assinarei... Deixem ficar.
CIGANUS E enquanto às convulsões do leão popular, Como diria o nobre duque, afoitamente Respondo pelo bicho: um cão ladrando à gente: Dobrei guardas, minei as pontes à cautela, E fica a artilharia em volta à cidadela. Não há perigo nenhum. Durma El-rei sem temor. Boa noite, Senhor...
MAGNUS (curvando-se até ao chão) Meu Senhor!
OPÍPARUS Meu Senhor... Saem os três.
MAGNUS (vai pensando: Ora, se o filho do alfaiate qualquer dia Inaugurava ainda a quinta dinastia!... Eu sentado no trono!... Eu rei de Portugal!!... Que, rei ou presidente, enfim é tudo igual... Muita finura agora e muita vigilância, Observando e aguardando as coisas a distância!... Magnus! lume no olho e não te prejudiques... Eu suceder, caramba! a D. Afonso Henriques!!...
CENA III O rei, só.
O temporal aumenta. Relâmpagos e trovões.
O REI Não me lembra de ver uma tormenta assim!... Que demônio de noite!... Ando fora de mim, Desvairado... Um veneno oculto me afogueia, Que há três dias que trago uma cabeça alheia Nestes ombros... Que inferno!... É esquisito... é esquisito!... Foi beberagem má... droga horrenda... acredito! Uns vagados de louco, um frenesi medonho... Sonharei, porventura, e será tudo um sonho?!... Acordado ando eu, acordado a valer, Que há três noites não pude ainda adormecer!... Peçonha?... não!... A causa disto... a causa é o doido O raio do fantasma, esse maldito doido Que me persegue!... tenho medo... e vergonha em dizê-lo!... E depois o cronista-mor, um pesadelo Ambulante, um maluco agoureiro e cismático, Com aquelas visões estranhas de lunático, Faz-me mal... faz-me mal... Que o leve o diabo... O certo É que há dentro de mim desarranjo encoberto...
Uma insônia danada... um nervoso... um fastio... Misantropia tal que não bebo, nem rio, Nem de touros me lembro enfim, nem de ir à caça! Mau sangue... Árvore má... Podre... podre... É de raça!...
UMA VOZ TRÁGICA(na escuridão) Ai, na batalha destroçado, Ai, na batalha destroçado, Rota a armadura, ensanguentado, Debaixo duma árvore funesta Fui-me deitar, fui-me deitar... dormir a sesta... Fui-me deitar... dormi... dormi... Endoideci, enlouqueci Debaixo duma árvore funesta!...
(Uivam os cães, espavoridos e furiosos).
O REI O doido! o doido! o doido!... Há três noites a fio Que este velho alienado, horroroso e sombrio, À volta do palácio, ave negra d'azar, Anda a cantar!... anda a cantar!... anda a cantar!... (Indo ao balcão) Ei-lo! (Ao clarão dum relâmpago, destaca-se, de súbito, fronteiro ao castelo o vulto trágico do doido. Um gigante. Roto, cadavérico, longa barba esquálida, olhos profundos de alucinado, agitando no ar um bordão em círculos de agouro, cabalísticos. O manto esvoaça-lhe tumultuoso, restos duma bandeira velha ou dum sudário) Morro de medo!... Há não sei que de extravagante, De inquietador, na voz, nas feições, no semblante Deste doido... Será um doido porventura?... Mal a sua voz acorda, rouca, a noite escura, Logo os cães a ladrar, a ladrar e a gemer, Como se entrasse a morte aqui sem eu a ver!... Que raio de fantasma!... É coisa de bruxedo...
Não ando em mim... não ando bom, tremo de medo... Esquisito!... (Sentando-se ao fogão) Ora adeus! É do tempo... é da lua... Nervoso... Passa... Mas, se o diabo continua Com as trovas de agouro, eu forneço-lhe o mote, Mandando-o escorraçar a cacete e a chicote. (Vendo o pergaminho sobre a mesa) O tratado... Uma léria... Enfastia-me já... Mais preto menos preto, a mim que se me dá?! Por via agora duma horrenda pretalhada Mil barafundas e alvorotos... Que maçada! Que maçada!... Fazem-me doido, não resisto... (Desenrolando o pergaminho) É assiná-lo, e pronto! acabemos com isto! (Lendo alto) "Eu, rei de Portugal, súbdito inglês, declaro Que à nobre imperatriz das Índias e ao preclaro Lord Salisburi entrego os restos duma herança Que dum povo ficou à casa de Bragança, Dando-me, em volta, a mim e ao príncipe da Beira A desonra, a abjeção, o trono... e a Jarreteira." Cáspite! um pouco forte... Ora adeus!... uma história... Chalaças... Devo a coroa à rainha Vitória!
O DOIDO (na escuridão) Tive castelos, fortalezas pelo mundo... Não tenho casa, não tenho pão!... Tive navios... milhões de frotas... Mar profundo, Onde é que estão?... onde é que estão?!... Tive uma espada... Ah, como um raio, ardia, ardia Na minha mão!... Quem ma levou? quem ma trocou, quando eu dormia, Por um bordão?!... E tive um nome... um nome grande... e clamo e clamo, Que expiação! A perguntar, a perguntar como me chamo!...
Como me chamo? Como me chamo?... Ai! não me lembro!... perdi o nome na escuridão!...
O REI (desvairado, erguendo-se) O doido!... Aquela voz de fantasma titânico Gela-me o sangue e petrifica-me de pânico! Por quê?... Ignoro... O mesmo instinto singular, Que faz ladrar os cães, mal o ouvem cantar... Parece-me um algoz, um carrasco sangrento D'além campa, a marchar no escuro a passo lento, Direito a mim!... Lá vem!... lá vem vindo... não tarda!... Quem me defende?... a minha corte? a minha guarda? A minha guarda!... a minha corte!... Ah, bons amigos, Como hei de crer em saltimbancos e em mendigos, (Sentando-se ao fogão, junto dos cães) Se nem mesmo nos cães tenho confiança já!... (Os três cães, agachando-se-lhe aos pés, acariciam-no e lambem-no)
O REI (enxotando Iago bruscamente) Iago... Iago!... Então... basta de festas, vá!... Safado! cachorro imundo!... Olhem o odre De gordura, já meio leso e meio podre! Biltre! À força de comezainas e de enchentes Emprenhou-te a barriga e caíram-te os dentes! As unhas foi meu pai quem tas cortou de vez... Já nem és cão... és porco; e inda em porco és má rês! E lembrar-me eu de o ver, canzarrão duro e bruto, O ventre magro, o olhar em sangue, o pelo hirsuto, Capaz de trincar ferro e mastigar cascalho!... E ei-lo agora: poltrão! ventrudo-mor! bandalho! (Iago redobra de festas. O rei dá-lhe um pontapé) O bandalho! o bandalho!... E este Judas esperto, Este Judas, filho de loba e cão incerto!... Um chacal remeloso e sarnento e pelado, Todo corcunda, esguio e vesgo, a olhar de lado!... E acredita, o pandilha sorna, o safardana,
Sempre a beijar-me os pés, sempre a tossir de esgana, Que me ilude!... Cachorro!... Ora diz lá, meu traste: Por quanto hás de vender El-rei? já calculaste?... E um Veneno, que é tão pequeno e que é tão mau! Fraldiqueiro e feroz, pulgasita e lacrau! Com ganas de trincar a humanidade inteira, Vai trincando pastéis e barrigas de freira... (Erguendo-se) E são três cães, três cães! Iago, Judas, Veneno, Um odre imundo, um chacal torto e um rato obsceno, O meu amparo! Que vergonha!... Ao que eu cheguei!... Três podengos de esquina a tutelar um rei! Mas, que demônio! sou injusto... a verdade, a verdade É que guardam o prédio e fazem-me a vontade... Por amor à ração e não amor ao dono? Inda bem.... inda bem... tem de salvar o trono, Se quiserem jantar... perdida a monarquia, Adeus o regabofe e adeus a conesia! Por isso estão, como dragões, de sentinela Junto do rei, junto da copa e da gamela. Defendem-me. E eu ainda os insulto!... coitados! Mandriões e glutões, gostam de bons bocados... Também eu... Por que os hei de, afinal, descompor? É da bílis, da inquietação, do mau humor Em que eu ando... Nem sei... que demônio! foi praga... Raios partam o doido e essa abantesma aziaga Do cronista!... Não há que ver, fazem-me tonto!... (Vendo o pergaminho) Mais esta geringonça inda por cima! (Indo a assinar) Pronto!
O DOIDO (na escuridão) Ai, a minh'alma anda perdida, anda perdida Ou pela terra, ou pelo ar ou pelo mar... Ai não sei dela... ai não sei dela... anda perdida, E eu há mil anos correndo o mundo sem na encontrar!...
Pergunto às ondas, dizem-me as ondas: — Pergunta ao luar... — E a lua triste, branca e gelada, Não me diz nada... não me diz nada... Põe-se a chorar! Pergunto aos lobos, pergunto aos ninhos, E nem as feras, nem os passarinhos Me dizem onde habita, em que lugar!... Sangram-me os pés das fragas dos caminhos... Não tenho alma, não tenho pátria, não tenho lar!... Ai, quanta vez! ai, quanta vez! Não passará talvez A minh'alma por mim sem me falar! Quem reconhece o cavaleiro antigo Neste mendigo Roto e doido... quem há de adivinhar?!... Adivinhava ela... adivinhava!... O cão no escuro, pela serra brava, Não vai direito ao dono a farejar? Adivinhava... É que está presa... é que está presa! Ontem sonhei...(lembro-me agora!) que está presa Naquela bruta fortaleza, Numa cova sem luz, num buraco sem ar, E que os carrascos esta noite, de surpresa, A vão matar! a vão matar! a vão matar!... Por isso o mar anda a rezar!... Por isso a lua desmaiada, Sem dizer nada... sem dizer nada... A olhar p'ra mim, branca de dor, fica a chorar!...
(Ribombam trovões, fuzilam relâmpagos. Os cães, espavoridos, ululam sinistramente)
O REI (alucinado, clamando) É demais! é demais!... Põe-me o caco do avesso!... Um frenesi... Que fúria!... irrita-me... endoideço...
E anda às soltas este ladrão deste espantalho!... Eu já o ensino, já o arranjo... um bom vergalho... Marquês! marquês! marquês!
CENA IV O rei, Opíparus e Ciganus, acudindo.
OPÍPARUS Meu Senhor!...
CIGANUS Meu Senhor!...
O REI (alucinado) Vão-no prender!... vão-no prender!... Um salteador... Tragam-mo aqui aos pés, de rastros, maniatado!... Tragam-no aqui!...
OPÍPARUS (à parte) El-rei endoideceu, coitado!
CIGANUS Meu Senhor! meu Senhor, que indignação!... Dizei, Alguém desacatou a pessoa del-rei, Por acaso?
O REI Um fantasma louco entre o arvoredo...
OPÍPARUS Um fantasma?!... Ilusão... O ar atordoa...
CIGANUS Medo De quê? de agouros infantis, de sonhos vagos?
Com ministros leais e escudeiros bem pagos, Que teme el-rei?!...
O REI Não foi vertigem, não foi sonho... Um brutamontes alienado, um gigante medonho Que me não deixa... Quero vê-lo... Ide prendê-lo... andai...
CIGANUS Mas que fantasma é esse aterrador?
O REI (levando-os ao balcão e apontando) Olhai! Além!... além!... além!...
CIGANUS Estrambótica figura!... É singular... é singular...
OPÍPARUS Crime ou loucura... Por certo um doido...
O REI Há já três noites, sem descanso, Uivando loas sobre loas...
OPÍPARUS Doido manso...
O REI Ide prendê-lo!... amordaçai-o, maniatai-o! Não me larga esta insônia há três noites!... Um raio Dum profeta a grunhir cantochões de defuntos!... Boa carga de pau... bom marmeleiro aos untos... Mas vejam lá que o diabo às vezes, com a telha, Não arme algum chinfrim... Peguem-no de cernelha!
CENA V O rei, inquieto, preocupado, senta-se ao fogão. Os cães abeiram-se, uivando medrosos. Redobra a tormenta. Pestanejam, contínuos, relâmpagos formidáveis.
O DOIDO (no escuro, em voz plangente de embalar crianças) Os vivos têm medo aos mortos, Que andam de noite ao luar... Fantasmas de mortos São enganos mortos... Deixem-nos andar... deixem-nos andar!...
Os vivos têm medo aos mortos, Que andam sonhando a penar... Quimeras de mortos São desejos mortos... Deixem-nos sonhar... deixem-nos sonhar!...
Os vivos têm medo aos mortos, Que andam cantando a chorar... As canções dos mortos São suspiros mortos... Deixem-nos cantar... deixem-nos cantar!...
O REI O doido! o doido! o doido!
A MESMA VOZ (na escuridão) Não lhes tenham medo... deixem-nos cantar...
CENA VI Entram Ciganus e Opíparus acompanhando o fantasma, em meio de escudeiros armados e com archotes. O doido aparece tal qual o descrevemos:
enorme, cadavérico, envolto em farrapos, as longas barbas brancas flutuando. Numa das mãos o bordão. Na outra um velho livro em pedaços. Lembra um doido e um profeta, D. Quixote e o Rei Lear. O olhar, cavo e misterioso, é de sonâmbulo e de vidente. O rei empalidece como um sudário. Os cães ululam, furiosos e trêmulos.
CIGANUS Eis o doido... É curioso este Matusalém... Como se chama? onde nasceu? de onde vem? Ignora tudo... Canta e soluça...
OPÍPARUS De resto, Não tem fúrias, nem anda armado: um doido honesto.
O REI Que estafermo!... que monstro!... Um espião, talvez...
OPÍPARUS Deixou-se maniatar, prender, qual uma rês Submissa... Não, um doido...
CIGANUS Um doido extravagante... Quem és? Despacha a língua... olha que estás diante D'el-rei... Diz o teu nome...
OPÍPARUS O teu nome, vilão!
O DOIDO (absorto) Como me chamo... como me chamo?... Ai! não me lembro... perdi o nome na escuridão...
CIGANUS Sempre a mesma resposta inalterável...
O REI Diz De donde vens? onde nasceste? em que país? Nada temas... El-rei é bom, podes falar...
O DOIDO (sonâmbulo) Não tenho alma... não tenho pátria... não tenho lar...
O REI Traz um livro na mão, reparai...
CIGANUS (tomando o volume, que o doido entrega, pesaroso) Deixa ver... Deixa-mo ver... um livro antigo... Sabes ler? Tu sabes ler?
OPÍPARUS Anda, responde, não te encolhas...
CIGANUS (abrindo o livro: Nem princípio, nem fim; trapos todas as folhas. (Folheando e lendo) Esta é a ditosa pátria minha amada... Alguns traidores houve algumas vezes... Porque essas honras vãs, esse ouro puro Verdadeiro valor não dão... A que novos desastres determinas De levar estes reinos, esta gente?... apagada e vil tristeza...
O REI Parece verso... CIGANUS (restituindo o livro: Um alfarrábio fedorento, Coisa de pregador, talvez... cheira a convento...
CIGANUS Quem sabe se algum velho ermitão alienado, Desses que vivem sós, longe do povoado, Em ermos alcantis ou cavernas de fera...
OPÍPARUS Onde dormes?
O DOIDO Dormir!... dormir!... Oh, quem me dera Dormir!... Oh, quem me dera esta cabeça vaga, Esta cabeça tonta, arrimá-la a uma fraga, E quedar-me p'ra sempre esquecido no chão!... E os mortos dormem... e eu morri... então... então Por que não durmo?!... (Vagueando os olhos esgazeados pelos retratos da dinastia de Bragança, e como que recordando-se gradualmente, em sonho, dum escuro passado, abolido e longínquo) Olha os bandidos... os traidores!... Bem nos conheço!... foram eles... sutilmente (Rosnam os cães, enfurecidos) Com drogas más e com venenos de serpente, Sem eu saber, de noite e dia, a pouco a pouco, Me levaram a alma e me tornaram louco... Enlouqueceram-me, endoidaram-me os bandidos!... A minha alma!... a minha alma!... Ouço gemidos... São talvez dela... tem-na aqui encarcerada... Onde estás, onde estás, alma desamparada?!... Grita por mim!... onde é que estás?!... Ai, quero enfim Ver-te comigo... Onde é que estás?!... (Os cães, truculentos, investem com ele. Resignado e com desprezo): Ah, cães danados... cães del-rei... mordei, mordei Este corpo sem alma!... Ah fosse outrora... outrora!... E ai dos cachorros e do dono!... Assim... agora... Mordei, mordei, ladrai, despedaçai sem perigo A minha carne e os meus andrajos de mendigo!...
CIGANUS Coitado! um noitibó maluco e mansarrão...
OPÍPARUS Delírio de tristeza e de perseguição...
O REI Astrólogus talvez o conheça...
CIGANUS O farsante! Pregador, impostor, mágico, nigromante, Meio raposa e meio coruja...
O REI É tal e qual... perfeito... Mas o demônio do mostrengo tem seu jeito Para enigmas... Quem sabe!... Ide-o chamar... talvez...
CENA VII Opíparus vai em procura do cronista. O doido, sonâmbulo, vagueia em torno do salão, contemplando os retratos. O rei ao lume, junto dos cães, segue-o com os olhos.
CIGANUS (meditando) Bem complicado este cronista!... Quem o fez Teve artes de engendrar singular criatura, Contraditória, ondeante, incerta, ambígua, obscura... Há duas almas no mostrengo: a que arquiteta Quimeras vãs e sonhos vãos, a do poeta Lunático, imbecil, místico, iluminado, Essa deixá-la andar, que me não dá cuidado! Mas a outra, a ambiciosa, a gulosa, a mesquinha, A refalsada, (a verdadeira!) a igual à minha, Essa mais devagar, Saltamontes... cautela!...
Olho nela... olho nela... O rei é tudo, o rei fraco... este cronista Discursa bem... convém não o perder de vista... Inútil. Afinal as duas almas ao cabo Destroem-se uma à outra, é como Deus e o Diabo. E enquanto que ambas a ferver, drogas contrárias, Em mil combinações, imprevistas e várias, Se desagregam, eu, tranquilo e resoluto, Como tenho uma só, imagino e executo. Ah, o cronista ambíguo e magro e macilento Não pasmarei de o ver ainda num convento... Bem capaz de morrer, jejuando, ermitão... A loucura sutil envolve-o... Que trovão! Que relâmpago!... Brada o vento... ulula o mar... E este doido esquisito e singular, a olhar... A olhar... Que leve o demo a noite e a ventania...
O REI (seguindo o doido com os olhos) Pois agora embirrou! não larga a dinastia...
O DOIDO (absorto) Fantasmas de mortos São enganos mortos... Não lhes tenham medo... deixem-nos sonhar...
CENA VIII Entram Opíparus e Astrólogus.
O REI (ao cronista-mor) Conheces porventura Este doido?
ASTRÓLOGUS Conheço.
O REI É doido?
ASTRÓLOGUS Na figura, Na voz, no olhar, em tudo o podeis ler, Senhor.
O REI E como endoideceu?
ASTRÓLOGUS De miséria e de dor.
O REI Há muito?
ASTRÓLOGUS Vai fazer três séculos...
CIGANUS A vista Do espantalho endojou a mioleira ao cronista...
O REI Três séculos!... caramba! então que idade tem? Mil anos?...
ASTRÓLOGUS Quase...
OPÍPARUS Pronto! endoideceu também!
ASTRÓLOGUS A mil não chega ainda; oitocentos...
CIGANUS Coitado! Endoideceu! doido varrido e confirmado!
O REI Gracejas?
ASTRÓLOGUS Não perdi a razão, nem gracejo... Acaso, meu Senhor, não vedes, como eu vejo, Neste gigante, em seu aspecto e seu fadário, O quer que seja de extra-humano e de lendário? Maior que nós, simples mortais, este gigante Foi da glória dum povo o semideus radiante. Cavaleiro e pastor, lavrador e soldado, Seu torrão dilatou, inóspito montado, Numa pátria... E que pátria! a mais formosa e linda Que ondas do mar e luz do luar viram ainda! Campos claros de milho moço e trigo louro, Hortas a rir, vergeis noivando em frutos d'ouro, Trilos de rouxinóis, revoadas de andorinhas, Nos vinhedos pombais, nos montes ermidinhas, Gados nédios, colinas brancas, olorosas, Cheiro de sol, cheiro de mel, cheiro de rosas, Selvas fundas, nevados píncaros, outeiros D'olivais, por nogais frautas de pegureiros, Rios, noras gemendo, azenhas nas levadas, Eiras de sonho, grutas de gênios e de fadas, Riso, abundância, amor, concórdia, juventude, E entre a harmonia virgiliana um povo rude, Um povo montanhês e heroico à beira-mar, Sob a graça de Deus, a cantar e a lavrar! Pátria feita lavrando e batalhando: Aldeias Conchegadinhas sempre ao torreão de ameias. Cada vila um castelo. As cidades defesas Por muralhas, bastiões, barbacãs, fortalezas. E a dar a fé, a dar vigor, a dar o alento, Grimpas de catedrais, zimbórios de convento,
Campanários de igreja humilde, erguendo à luz, Num abraço infinito, os dois braços da cruz! E ele, o herói imortal duma empresa tamanha, Em seu tuguriozinho alegre na montanha Simples vivia, — paz grandiosa, augusta e mansa, Sob o burel o arnês, junto do arado a lança. Ao pálido esplendor do ocaso na arribana, Di-lo-íeis, sentado à porta da choupana, Ermitão misterioso, extático vidente, Olhos no mar, a olhar sonambolicamente... —"Águas sem fim! ondas sem fim!... Que mundos novos De estranhas plantas e animais, de estranhos povos, Ilhas verdes além... para além dessa bruma, Diademadas de aurora, embaladas de espuma!... Oh, quem fora, através de ventos e procelas, Numa barca ligeira, ao vento abrindo as velas, A demandar as ilhas d'ouro fulgurantes, Onde sonham anões, onde vivem gigantes, Onde há topázios e esmeraldas a granel, Noites de Olimpo e beijos d'âmbar e de mel!" E cismava e cismava... As nuvens eram frotas Navegando em silêncio a paragens ignotas... —"Ir com elas... fugir... fugir!..."— Uma manhã, Louco, machado em punho, a golpes de titã Abateu impiedoso o roble Familiar, Há mil anos guardando o colmo do seu lar. Fez do tronco num dia uma barca veleira, Um anjo à proa, a cruz de Cristo na bandeira... Manhã d'heróis... levantou ferro... e, visionário, Sobre as águas de Deus foi cumprir seu fadário. Multidões acudindo ululavam de espanto. Velhos de barbas centenárias, rosto em pranto, Braços hirtos de dor, chamavam-no... Jamais! Não voltaria mais!... oh, jamais... nunca mais!... E a barquinha, galgando a vastidão imensa, Ia como encantada e levada suspensa Para a quimera astral, a músicas de Orfeus...
O seu rumo era a luz, seu piloto era Deus! Anos depois volvia à mesma praia enfim Uma galera d'ouro e ébano e marfim, Atulhando, a estourar, o profundo porão Diamantes de Golconda e rubins de Ceilão. Náiades e tritões e ninfas, ao de leve, Moviam-na a cantar sobre espáduas de neve. No estandarte uma cruz esquartelando a esfera; E Vênus, voluptuosa, à proa da galera
Com o anjo cristão, virgem risonha e nua, A mamar alvorada em seus peitos de lua!... O argonauta imortal, quimérico gigante, Voltava dos confins da epopeia radiante, Extasiados ainda os olhos vagabundos D'astros de novos céus, floras de novos mundos!
Epopeia inaudita! Herói, ele a viveu, Sonhador, a cantou: Ésquilo e Prometeu! Inda em hinos de bronze, em estrofes marmóreas Vibra eterno o clangor dessas passadas glórias... Mas a glória entontece e mata... Deslumbrado, Trocou por armas d'ouro as armas de soldado, Vestiu veludo e seda e lhamas rutilantes, Estrelou de rubins, aljôfares, diamantes Sua espada de corte e seu gibão de gala, E, em vez do catre duro e pão negro de rala, As molezas do Oriente e as orgias faustosas, Com baixelas d'Olimpo e emanações de rosas... Perdida a antiga fé, morta a virtude antiga, Seu ânimo d'herói, caldeado na fadiga De mil empresas, mil combates de titãs, Domaram-no por fim braços de cortesãs. Com o ferro vencera o ouro; em desagravo, O ouro, que é mau, venceu-o a ele, tornando-o escravo. Ingrato abandonara o teto paternal, Em cuja mesa à ceia aldeã, herói frugal,
Eram de sua estreme e rústica lavoura O pão moreno, o vinho claro e a fruta loira. Deixou morrer o armento; e campos e vinhedos Cobriram-se de tojo, urtigas e silvedos. Em seus castelos e palácios rendilhados, Sobre leitos de arminho e veludo e brocados, Entre beijos de harém e pompas de rajá, Desfalecera o velho herói, caduco já. Mas era bravo ainda, e por vezes nas veias, Acordava-lhe o sangue, alvorando epopeias... Num ímpeto de febre, aceso, arrebatado Na visão deslumbrante e fulva do passado, Ergueu-se um dia, louco e triste, alma quimérica, Olhos em brasa a arder na face cadavérica... Aparelhou galeões, velas brancas arfantes, Cavaleiros aos mil, juvenis e brilhantes, Galopando a cantar, descuidados e ledos Lanças na mão, a pluma ao vento, anéis nos dedos, Cada boca uma flor, cada arma um tesouro, Rodelas d'ouro, arneses d'ouro, espadas d'ouro, Pedrarias astrais em cetins e em veludos, Drapejar de pendões, revérberos de escudos, E as trombetas varando o céu leve de anil Com o estridente clangor do seu furor febril! E, olhos em brasa a arder na face cadavérica, Lá partiu, lá partiu, alma errante e quimérica, À epopeia da glória, ao sonho aventureiro, Ao sonho lindo... oh, sonho triste o derradeiro!... Num mar d'areia, fogo em pó turbilhonando, Sob o vitríolo da luz redardejando, Entre as carnagens do combate desvairado, Já trucidado, espostejado, aniquilado Seu exército louco, — oh sonho louco e vão! — O calmo herói, noite no olhar, gládio na mão, Negro de fumo e pó, rubro de chama e sangue, Os ilhais estourando ao seu corcel exangue, Arrojou-se, como um destino, ereto e forte,
À sangrenta hecatombe, à paz de Deus, à morte! E a morte não no quis: exânime e desfeito, De lançadas crivado o arnez, crivado o peito, Sob o corcel tombou, por milagre inda vivo! Levaram-no depois sem acordo e cativo. Meio século preso e débil... De repente, Num assomo de fúria e de cólera ardente, Partiu grilhões, abriu o ergástulo fatal E voltou livre, livre! ao seu torrão natal!... Mas então, oh tristeza, oh desonra, oh desgraça! Feras do mesmo sangue, homens da mesma raça Envenenaram-no!...
(Iago atira-se furioso ao cronista).
O REI (dando-lhe um pontapé: Silêncio! deixa ouvir... Tem cada uma este cronista!... Iago não obedece. Outro pontapé. Deixa ouvir! E quem foi?... e quem foi?... Rosnam os cães, fuzilando os olhos ao cronista.
ASTRÓLOGUS(embaraçado e perplexo) Quem foi?... Mistério obscuro... enigma que se esconde... Já li sobre isso, não sei quando, nem sei onde, Uma lenda qualquer...
(Os cães enfurecem-se).
O REI Iago! Judas!... caluda!
ASTRÓLOGUS Mas nesse ponto, meu Senhor, a história... (Os cães ameaçam, desvairados)
é muda!... Envenenaram-no, eis o fato, eis a verdade. E às escuras, extinta a imortal claridade, Louco autômato errante, alma cega e funérea, Veio andando através do tempo e da miséria, Mendigo como um cão e mártir como um Cristo, Até chegar, meu Deus, vergonha eterna! a isto!!... Vede-o bem, vede-o bem, o rude herói d’outrora: Teve o mundo nas mãos, nos olhos d'águia a aurora. E hoje, oh destino atroz! sem amparo e sem lar, Tem andrajos no corpo e escuridões no olhar!... Não no mandeis prender, eu vo-lo peço e requeiro! É inofensivo... é manso e bom como um cordeiro... Causam-vos medo, porventura, umas baladas Que anda à noite a cantar, canções d'almas penadas?... É a doidice, hórrida e má, que tumultua Ou nas voltas do tempo ou nas fases da lua... Não afronta ninguém... Deixem-no ir, coitado! Deixem-no com seu mal e seu negro cuidado, A trovar pelo escuro e a viver pelos montes De luz do sol, d'erva do campo e água das fontes... Trás um livro na mão, reparai bem, Senhor: Um livro usado, um livro gasto e sem valor... Sem valor?!... Um tesouro, uma história de encanto, Que ele escreveu com sangue e hoje rega com pranto... Não a larga da mão, anda-lhe tão afeito, Que até dorme com ela escondida no peito... Mas que miséria a sua e que destino o seu! Quer ler... e não soletra o livro que escreveu! Muitas vezes de tarde encontro-o a meditar Sobre rocha escarpada e nua à beira-mar... Pega no livro então, abre-o sofregamente, E fica olhando, olhando, atônito e demente, A epopeia d’outrora, a bíblia do passado, Que lágrimas de fogo em séculos tem queimado...
Mas ai! que serve olhar, se os olhos são janelas, E se a alma é quem vê, quem espreita por elas!... Fica a olhar... fica a olhar, hesitante e perplexo, Balbucia, articula umas coisas sem nexo, E, por fim, taciturno e torvo, aniquilado, Como quem vislumbreia, horror! o seu estado, Fita as nuvens do azul... fita as ondas do mar... E desata, em silêncio, a chorar!... a chorar!... E depois vem a noite... e ali dorme ao relento, Desamparado, abandonado, ao frio, ao vento, Até que algum pescador, de manhã, pela mão O recolha ao seu lar e lhe dê do seu pão!...
CIGANUS Bem o dizia eu... bem o dizia eu... Este cronista não regula... endoideceu! Que histórias que ele inventa, o mágico!...
OPÍPARUS Perlendas De visionário tonto, inquiridor de lendas... Vagueiam-lhe no caco obscuro, entre miasmas, Lêmures, avejões, duendes, monstros, fantasmas...
CIGANUS E no entanto calcula e discorre direito, Se lhe cheira a questão de ganância ou proveito...
O REI Tantas magicações, tanto grego e latim Turvaram-lhe a razão, deram com ele assim. Pobre cronista! anda na lua... As trapalhadas, As pandangas que ele arquiteta!... E bem armadas! Bem armadas!... com certo dedo... Francamente, Às vezes o ladrão quase embarrila a gente! Põe-se-me a fantasiar uns casos de mistério,
Com tamanho palavriado e tanto a sério, Que fico besta!... Ora o ratão! ora a inzonice! Vejam lá, vejam lá, tudo que p'raí disse! Os maranhões, a lengalenga, a choradeira Sobre um doido, coitado, a cair de lazeira! (Designando o doido) Coitado! meio nu, faminto, vagabundo, De charneca em charneca, aos tombos pelo mundo, Sem ninguém... vê-se bem que esta doida alimária É de família pobre, é de gente ordinária. E eu com receios e com medo! Visto ao longe, Tão alto, um vozeirão, as barbaças de monge, Era um horror! coitado! um maluco, afinal... (Aos guardas) Deixem-no em liberdade e não lhe façam mal. Não o espanquem... Ninguém lhe bata... ordens severas! Ninguém bate num doido; os doidos não são feras. Tratem-no bem... com caridade... Para a ceia Uma côdea de pão e a gamela bem cheia. Desgraçado! E dormir... dorme perfeitamente Na estrebaria ao pé dos cães: é limpo e é quente. Roupa grossa... Avisai lá embaixo a canalha... Duas mantas de lã e três feixes de palha. Não se esqueçam! cumpram as ordens que lhes dei!
ASTRÓLOGUS(curvando-se humildemente) Ó alma generosa! Oh magnânimo rei! Que agradável não é ser o cronista obscuro De espírito tão alto e coração tão puro!
(O doido sai acompanhado dos guardas. Os cães perseguem-no,ladrando, até à porta. Desencadeia-se a tormenta. Raios, trovões, aguaceiros, ventanias lúgubres. O rei e os validos dirigem-se ao balcão. O cronista acaricia os cães, galhofeiramente, sorrindo amável)
O CRONISTA (afagando Iago) Iago, meu bom amor! fazes as pazes comigo! Sabes quanto te quero e sei que és meu amigo... Não te zangues... perdão... congracemo-nos, vá! O doido foi-se embora e não torna a vir cá... Havia de eu perder afeições como a tua, Por causa dum maluco a divagar na lua?!... Anda, não sejas mau... fazes as pazes comigo... Meu protetor... meu defensor... meu velho amigo!... (Ameigando Judas) E este Judas!... tão bom... tão leal... tão sincero!... Como eu gosto de ti, Judas! como eu te quero!... (Pegando no Veneno ao colo) E o meu Veneno! o meu bijou! a rica prenda!... Que amor de cão!... que perfeição!... Nem de encomenda!... É de apetite o meu Veneno, o meu tesouro... Uma beijoca, vá, no focinhito louro!... (Afagando os três cães simultaneamente) E, para liquidar agravos duma vez, Disponho-me esta noite a cear com vocês!
O REI (despedindo o cronista) Cronista, vai dormir... boa noite... Deus queira Que o sono te refresque um pouco a maluqueira...
O CRONISTA (sai, pensando) Na batalha da vida evidente se torna Que ou havemos de ser martelo ou ser bigorna. Conclusão natural do dilema singelo: Evitar a bigorna triste... e ser martelo. Monstruoso, feroz, horrível, mas em suma Ponderemos que a vida é curta, — e que há só uma!
CENA IX
O REI (sentando-se comodamente ao fogão) Ora do doido estou eu livre! Agasalhei-o, Matei-lhe a fome, e agora quente, o ventre cheio, Cama bem farta, vai dormir e repousar, E não volta por certo esta noite a cantar... (Repotreando-se alegremente) Uf! sinto-me bem! volto a mim... (Trincando um charuto e voltando-se para Ciganus) Dá-me lume. Ia perdendo o vício... É da regra... é o costume... Em não fumando, mau negócio! ando esquisito... Pois amanhã caçada e tourada, está dito! Hei de abater, e sem fazer lá grandes forças, Doze touros, trezentas lebres e cem corças.
OPÍPARUS (à parte) Já mente... Vai melhor!
(Tiros ao longe. Clamor distante. Os cães ululam)
O REI (sobressaltado) Ouvi... ouvi!... ouvi!... Tiros... detonações... é próximo daqui... Fuzilaria!... Ouvi... Que demônio se passa?!...
CIGANUS São os guardas Del-Rei, que andam de noite à caça...
O REI De noite à caça!
CIGANUS Montaria aos lobos, meu Senhor...
O REI Dei cabo dum aqui há tempos... Que vigor, E que tamanho! Era de noite... foi na estrada... Caiu logo no chão à primeira mocada! Tenho morto dúzias de lobos e de lobas, Nenhum assim: pesava umas quarenta arrobas.
OPÍPARUS (à parte) Sim senhor, eis El-Rei já no estado normal!
(Ouvem-se marteladas cavas e repetidas nos subterrâneos profundos do palácio)
O REI Que barulho lá baixo!... Um estrondo infernal De marteladas!... Santo Deus! nem trinta diabos juntos, Pregando a toda a pressa esquifes de defuntos!
OPÍPARUS (rindo) Gente carpinteirando em tábuas e barrotes, Não para esquifes, meu Senhor; para caixotes! Mandei encaixotar (a providência é boa) Os milhões do tesouro e as baixelas da coroa. E enquanto à coroa, Senhor meu, Ninguém lha roubará, ninguém! defendo-a eu. O trono... o que é um trono? uma simples cadeira De veludo já gasto e de velha madeira. É, pois, minha profunda e sábia opinião Deixá-lo ir sem resistência... A coroa, não! A coroa é d'ouro fino, esmeraldas, diamante, Turquesas e rubis...(uns dois milhões cantantes!) E portanto, Senhor, havemos de levá-la, Há de ir conosco, ao pé de nós, dentro da mala!
CIGANUS (pensando e rindo) Coroa de procissão... rica para um andor: Pedras falsas; troquei-lhas eu; vidros de cor.
OPÍPARUS (continuando: E comido o banquete e devorada a presa, Bem nos importa a nós erguermo-nos da mesa! Partiremos a rir, terminado o dessert, Levando cada qual na algibeira o talher... Com três milhões de renda, um pecúlio feliz, Grande vida a dum rei destronado em Paris!...
O REI É cínico, mas tem pilhéria este demônio!...
OPÍPARUS Bom estômago e ventre livre: um patrimônio! A vida é boa ou má, faz rir ou faz chorar, Conforme a digestão e conforme o jantar. Pode crê-lo, Senhor, toda a filosofia, Ou tristonha ou risonha ou alegre ou sombria, Deriva em nós, tão orgulhosas criaturas, De gastrointestinais combinações obscuras.
O REI E a moral?
OPÍPARUS Rica farsa a moral! Não me ilude. Examinem qualquer vendedor de virtude, Casto como um carvão, magro como um asceta: A abstinência é impotência, o jejum é dieta. O diabo, meu Senhor, já velho e desdentado, Sifilítico, a abanar como um gato pingado, O traseiro sarnoso, em gangrena a medula, Exaurido a chupões de luxúria e de gula, Sentindo-se perdido e rabiando, afinal Quis vingar-se do mundo... e inventou a moral!
O REI (pensando) E, se eu nos pontapés desancasse esta corja, Ia às malvas... adeus! tinha banzé na forja!...
(Fundeou na praia uma galera de corsários. Desembarcam)
O DOIDO (na escuridão) A lua morta boia nas nuvens toda amarela... Corvos marinhos, corvos daninhos pousam sobre ela...
Tiram-lhe os olhos, comem-lhe a boca, já com gangrena... Astros errantes, agonizantes, choram de pena...
Choram de pena, tremem de mágoa, morrem de dor... Na noite escura canta a Loucura, grita o Pavor...
Lobas tinhosas d'olhos d'enxofre saltam valados... Pobres dos gados!... pobres dos gados pelos montados!...
O REI Olha o doido!... Lá torna o doido... Eu logo vi... Canta p'raí até estourar... canta p'raí!... Bom telhudo! em pelote e com este nordeste, A ladrar cantochões à lua!... Que lhe preste!
CIGANUS Deixe lá! faz-lhe bem... faz-lhe bem... P'rá mania Não há nada melhor do que o vento e água fria.
(Rebenta, fora, um grande tumulto. O rei e os validos assomam-se ao balcão. Vem debandando, clamorosa, a revolta vencida. Soldados, prisioneiros, feridos, moribundos em macas. Ais de estertor, pragas, vivas avinhados, gritos de mulheres, choros de crianças. Os cães, truculentos, ululam na varanda)
O REI Que é isto?!... que estardalhaço!... que chinfrineira!... Gritarias... um rodilhão... Temos asneira... Temos coisa... não há que ver, temo-la armada...
CIGANUS (rindo) É a guarda Del-Rei, de volta da caçada. Os monteiros são bons... a matilha é valente...
OS SOLDADOS (em clamor) Viva El-Rei! viva El-Rei!
O REI Compreendo. Excelente! Ora que espiga! por um triz, ahn! por um triz, Não vou às malvas! Ando em sorte!... fui feliz!... Iam-me empandeirando! um cheque e mate ao rei! Ora a cáfila! ora a cambada!... Se eu o sei, Com mil bombas! que os desfazia!... Eu lhes diria! Oh, que porradaria! oh, que porradaria! Rebentava-os! dava-lhes conta do bandulho E dos cornos, mas à paulada! era a estadulho! Quando o trono cair, sem lenha é que não cai... Mostarda rija! O banazola de meu pai Tinha-os em mau costume... Isto agora é perigoso... Aqui há unhas p'ros coser... olá, se os coso!
(Entra um cavaleiro, portador duma mensagem)
CIGANUS (depois de a ler) Montaria real! Foi covil por covil: Feras mortas oitenta e prisioneiras mil.
O REI Dois gajões duma cana! Obra de lei!... Entrego Nas vossas mãos o meu destino, como um cego. Marquês, faço-te duque; e ao ducado acrescento Quinze milhões... Encaixa a história no orçamento... Opíparus, a ti, reinadio e marau, Pago-te os cães: trezentos contos...
OPÍPARUS Não é mau; Recebendo eu o bolo e fazendo a partilha; O meu grande credor sou eu. Quanto à matilha, Que se esfalfe a ganir... Não me incômoda nada...
O REI (voltando-se para os cães) Iago, aboca! Olha o petisco: uma embaixada! Faço-te embaixador! ahn, que empanzinadelas!... Que vidinha!... Um sultão num harém de cadelas!... A este Judas circunspecto que hei de eu dar? O Conselho d'Estado; é próprio e é bom lugar. Conselheiro, portanto. E o Veneno? O Veneno, Conde e ministro. Um felizardo o meu pequeno! Um catita! (Acendendo um charuto e indo à varanda) Perfeitamente! Ora Deus queira Que abichemos um dia bom p'ra pagodeira! Um dia alegre! O tempo muda... ronda ao norte... Magnífico! hão de ver doze touros de morte, Desembolados! Inauguro enfim a minha praça: Vai o Botas, o Pintassilgo e o Calabaça.
O DOIDO (na escuridão) Ao luzir d'alva semeei de flores Uma encosta deserta ao pé do mar Cravos, lírios, jasmins, goivos, amores, Açucenas e rosas de toucar. Ao redor vinha verde e trepadeiras, Medronheiros, figueiras, romanzeiras... Lindo jardim! Lindo pomar! Como no monte não havia fonte, Desatei a chorar para o regar...
Depois, oh meus feitiços! Enchi de abelhas d'ouro cem cortiços E dez pombais com pombas de luar... Olha o lindo jardim!... olha o lindo pomar!... E enxada ao ombro, já raiava a aurora, Abalei a cantar!... Foi há mil anos... Venho mesmo agora De ver a linda encosta à beira mar... Lindo jardim! lindo pomar! As açucenas deram-me gangrenas E os jasmins podridões a fermentar!... Os cravos deram cravos... mas de cruzes! E as roseiras espinhos de toucar... Sobre as ervas no chão crepitam luzes, Fogos fátuos de larvas a bailar... Só dos goivos, Senhor, brotaram goivos, Destilando loucura e rosalgar... Olha o lindo jardim! olha o lindo pomar! Os figos das figueiras são caveiras E os medronhos são balas de matar... Oh, que lindas romãs nas romanzeiras! Corações fuzilados a sangrar!... Inda bem, que em vez d'uvas nas videiras Há rosários de dor para eu rezar... Olha o lindo jardim! olha o lindo pomar! De dentro dos cortiços, que feitiços! Voam corvos e corujas pelo ar... E dos pombais, aos centos, Nuvens de abutres agourentos, Que sobre as romanzeiras vão pousar!... Olha o lindo jardim! olha o lindo pomar! É de encantar a natureza!... ai que beleza! Quantas florinhas para a minha mesa!... Deus, quanta fruta para o meu jantar!... Lindo jardim... lindo pomar!...
CENA X Os mesmos e Magnus, que entra majestoso e solene.
O REI Chega ao calhar... Então, meu duque, a trabuzana Foi boa... Por um triz, iam-nos à pavana!
MAGNUS (grandioso) Valeu-lhe, meu Senhor, (doa isto a quem doa!) Haver três homens, como nós, junto da Coroa, Para a salvar dum grande abismo!... A situação...
O REI Ganhou hoje, meu duque, o Elefante e o Pavão.
MAGNUS Nem sei como exprimir a Vossa Majestade A alegria que sinto!... É demais! que bondade! A grã-cruz do Pavão!... Nunca o julguei... Em suma, Feliz!... morro feliz... Já não há mais nenhuma!
O REI (a Ciganus) E agora?
CIGANUS Meu Senhor, é dormir sem cuidados! Os mortos cemitério e os vivos...
OPÍPARUS Enforcados.
CIGANUS Talvez que sim, talvez que não... É conforme: o rigor, a clemência, o perdão, Tudo às vezes convêm, tudo tem seu lugar...
Enforco-os, claro está, se os puder enforcar. Não podendo, enxovia; e, se a nação revolta Clama contra a prisão... deixá-los hei à solta. Enforcados, melhor. Eu, gente que deteste, Quero em vez de canhões a guardá-la um cipreste. Mas, se matando arrisco a própria vida, não: Converto-me, de algoz furioso em bom cristão... Reinar, eis o importante; o modo é secundário. É conforme se pode; é dia a dia; vário. Fica melhor um rei num corcel de batalha, O chicote na mão, contemplando a canalha. Inspira assim terror, incute medo e fé. Não há, porém, cavalo? É governar a pé. E, se ainda precisa atitudes mais chatas, É governar de toda a forma, — até de gatas! O caso é governar, seja lá como for: Com manhas de toupeira ou voos de condor, Por caminho sinuoso ou caminho direito... Eu, para governar, a tudo me sujeito, Indo de cara alegre até ao sacrifício De ser exemplarmente honesto... por ofício!
(Continua a tormenta. Prosseguem os vivas. Os cães ladrando sempre)
MAGNUS (sentencioso) Nas vistas do marquês há pontos em que abundo, Pontos em que discordo. O mal é mais profundo! Talhemos com firmeza o mal pela raiz! Nas circunstâncias desastrosas do país, Quando um vento de insânia brava nos arrasta, Quando abusos de toda a ordem, toda a casta, Andam impunes; quando a moral e o direito Já não levam sequer à noção de respeito, À noção do dever, urge com brevidade Dar força à Coroa e dar prestígio à autoridade! Eu com rude franqueza o digo: o caso é sério! Nós vivemos (se isto é viver!) num baixo império!
Olhem bem ao redor: uma orgia! um entrudo! Abocanha-se tudo, emporcalha-se tudo, Nem o sacrário da família se venera, Não há reputação, ainda a mais austera, Que a não manchem... um lodaçal, um tremedal de escombros, E nós a vermos isto e a encolhermos os ombros! É demais! é demais! Vamos todos a pique! É necessário um termo! é necessário um dique! Sursum corda! Que El-Rei leve a bandeira em punho! E inda há gente... inda há gente! inda há homens de cunho! Inda há muita aptidão, muita capacidade E muita honra!... O que é mister é uma vontade! Obre El-Rei com firmeza! obre El-Rei sem demora! Qual o cancro que dia a dia nos devora? Toda a gente que vê, toda a gente que pensa Põe o dedo na chaga e conclui: a descrença! Se o mal vem da descrença, ataque-se a questão! Religião, Senhor e mais religião! Deus e mais Deus! tendo nós Deus e a força armada, Não há receio algum; dormirá descansada A monarquia. Deus, embora neste meio, Queiram ou não, é sempre Deus!... é ainda um freio!
OPÍPARUS (galhofeiro) E o profeta, que nos censura e nos fulmina, Tem palácio, grande estadão, mesa divina, É joisseur como dez banqueiros elegantes, E, fato escandaloso! a respeito de amantes Cultiva sobretudo (às vezes com seus perigos...) Esta especialidade: a mulher dos amigos!
MAGNUS (furioso) Safa! que língua! que veneno!...
O REI E o duque atomatado! Como se não pudesse um ministro de estado Regalar-se com vinhos bons ou fêmea alheia! Deixe-os morder de raiva. É tudo inveja, creia. Gosto dum velho assim, danado e atiradiço... Um velho folgazão... Simpatizo com isso. É cá dos meus... é cá dos meus...
MAGNUS (risonho e vaidoso) Na juventude, Rapaz... como rapaz... vamos! fiz o que pude!... A crônica inda o lembra... Hoje o caso é diverso... Aos sessenta já custa a endireitar um verso!
O REI Maganão!
MAGNUS Hoje não!... Só em pequenas dozes... Falta o melhor... São mais as vozes do que as nozes...
O REI (gracejando) Mas o que a mim me espanta, e não entra na bola, É sair-nos o duque um perfeito carola! Se a rainha estivesse, inda d'acordo, admito... Mas entre homens pregar sermões acho esquisito, Meu caro duque... Estou a vê-lo qualquer ano, Entrapado em burel, frade varatojano!
MAGNUS (solene) Distingo, meu Senhor, distingo: sou cristão, Com as rédeas do governo e do poder na mão. Católico e de lei, sob o ponto de vista Administrativo, e nada mais. Como estadista, Eu considero a Igreja uma pedra angular Da ordem! Quero o trono achegado ao altar!
A Igreja tem prestígio! a Igreja é um sustentáculo! Convêm ao cetro ainda a amizade do báculo! O homem público em mim, o defensor da Coroa, É desta opinião. Sustento-a e julgo-a boa. Mas cá dentro, no foro interno, a sós comigo, Eu, o particular e o filósofo, digo-o Alto e bom som, digo-o de cara e sem temor: Não há ninguém! ninguém! mais livre pensador! Eu admiro Voltaire!... Eu encontro-me em dia Com a marcha do globo e da filosofia.
O REI (galhofando) Se a Rainha lhe sente ideias desordeiras...
MAGNUS Leio Voltaire, mas quero os frades!...
OPÍPARUS E eu as freiras...
CIGANUS Por mim desejo tropa, em lugar de irmandades. Mas, se a rainha quer os frades, venham frades. Com certo jeito e condições, inda afinal Se atamanca de Deus um bom guarda rural...
(Trovão retumbante. A caverna da noite incendeia-se de ouro, abrasada a relâmpagos. Ais e lamentos. Gritos ferozes de soldados. Uivam os cães. Sente-se ao longe um rumor imenso de multidões que debandam)
MAGNUS (meditando) Que demônio!... cheira a chamusco... Volta a dança... Olha que brincadeira!... Isto, se a coisa avança, Vai tudo raso, vai tudo em cacos pelo ar! Não me sinto aqui bem... Nada! ponho-me a andar!... Uma história qualquer... (Ao rei)
Meu Senhor, a duquesa... (Foi deste abalo repentino, esta surpresa...) Achou-se mal, deu-lhe um febrão... em tal estado, Que não gosto... não gosto... inspira-me cuidado... E se El-Rei o permite...
O REI Ignorava... Ora essa, Meu caro duque! Ande ligeiro, vá depressa... Boa noite... Dormir um pouco, e às cinco e meia Na tourada. Curro catita! É de mão cheia!
(O rumor longínquo, de maré humana, avança, trágico, na escuridão profunda. Surge na praia uma nau gigante, embandeirada de negro.Uivam os cães)
CENA XI
O REI Ouvi!
OPÍPARUS O mar.
CIGANUS Não é o mar; a ventania.
O REI Também não... Escutai... escutai...
OPÍPARUS Dir-se-ia O confuso estridor, desordenado e vário Dum exército louco, em tropel tumultuário...
(O rei com os validos assoma-se ao balcão. Hordas inúmeras de esfarrapados, multidões de mendigos, turbas espectrais, homens e mulheres, velhos e crianças, ululando, gritando, praguejando, baixam a montanha em direção à praia, numa torrente caudalosa, numa levada contínua de sofrimento e de miséria. E o porão tenebroso do navio-fantasma engolindo, aos cardumes, vertiginosamente, aquela humanidade enlouquecida. E a enxurrada sinistra, avolumando, alastrando, cada vez mais tumultuária e bramidora. Dir-se-ia um povo de malditos, debandando a um cataclismo inexorável! Povo imenso, não tem fim, mas o navio não tem fundo. Cabe tudo lá dentro. Os cães, na varanda, rosnam, sombrios e provocantes)
O REI Que quer isto dizer?! que chinfrineira é esta?!... Que balbúrdia!... que multidões sombrias!... temos festa!... Oh, com mil raios! temos festa... Há banzé novo... Que estardalhaço... Um mar de gente!... um mar de povo, A correr, a crescer... Gritos, uivos, bramidos... Era uma vez, marquês!... Pronto! estamos perdidos!...
CIGANUS (fleumático, acendendo um charuto) Coisa vulgar, Senhor: emigrantes, miséria...
O REI Cuidei que era chinfrim de novo... Ora a pilhéria! Cuidei que era chinfrim... E antes o fosse! Ao cabo, Zurzia-os duma vez a pontapés no rabo! Punha-os de molho! A garotada jacobina Hei de lhe eu amolgar as trombas numa esquina! Chegando-me ó nariz os vinagres, cautela! Dá-me a fúria... e caramba! é d'alto lá com ela! Em Évora uma vez, há coisa de dois anos, Salta-me num caminho um bando de ciganos, Era de noite, mais escuro do que um prego, Atiro-me, arremeto às doidas como um cego, E esbandulhei quarenta e quatro!... Um bom chinfrim!...
OPÍPARUS O canhão Krupp?
O REI (sacando, da algibeira, um navalhão de ponta e mola) A naifa! Com um gesto esfaqueante: Eu cá é isto: assim!
O DOIDO (na escuridão) A fome e a Dor escaveiradas Ululam roucas nas estradas, Irmãs sinistras de mãos dadas... Misericórdia! Misericórdia! Na escuridão, entre lufadas, Que pavorosas debandadas De multidões desordenadas... Misericórdia! Misericórdia! Turbas gemendo esfarrapadas, Por ventanias e nevadas, Filhos ao colo, ao ombro enxadas, Sem luz, sem pão e sem moradas!... Misericórdia! Misericórdia! E em salas d'ouro, iluminadas, Há beijos, risos, gargalhadas... Misericórdia! Misericórdia! E, por outeiros e quebradas, Tombam choupanas arruinadas... Mortas... desfeitas em ossadas... Misericórdia! Misericórdia! Misericórdia!
OPÍPARUS Que bela voz! Dava um barítono estrondoso O diabo do maluco!...
O REI A mim faz-me nervoso, Não sei porque... Faz-me nervoso... Embirro, é doença...
Mas quanto poviléu! que turbamulta imensa De esfaimados, de miseráveis no abandono, Rafeiros a latir, sem albergue e sem dono! Vejam isto...
CIGANUS A miséria é lama, é sangue, e é pranto, A fermentar em crime e em veneno. Portanto Precisa esgoto; quer-se um esgoto e despejá-la Continuamente num porão ou numa vala. Emigrar ou morrer; degredo ou cemitério. O hálito da pobreza imunda é deletério. De trapos de mendigo e lençóis de vilão Faz a anarquia flamejante o seu pendão. Curta distância vai da indigência à rapina, Da mão que implora à que estrangula e que assassina. Dorme em cada esfaimado um tigre. Há que evitar Na rua aglomerações de ventres sem jantar. A miséria despeja-a Deus, a Providência, Do seu vaso noturno ao saguão da existência. Que fazer contra a lei de Deus, contra o Destino? Arredar para longe o excremento divino, Para bem longe, de maneira que a infecção Não nos perturbe a nós, Senhor, a digestão...
O REI É triste, mas enfim que remédio lhe dar?!
OPÍPARUS Comer, beber, dormir, jogar, caçar, dançar! Festas, Senhor! Muitas e vãs, loucas e várias! Não há jantar? Função. Não há pão? Luminárias. A pobreza anda rota, a canalha anda nua? Girândolas ao ar e músicas na rua. A fome e a dor bramem de noite, uivam nas eiras? Matinadas, clarins, vivas ao rei, bandeiras. Alegria! gozar! folgar! nada de luto!
Bombas! Salvem canhões de minuto a minuto! E a cada grito de miséria ou de estertor O cantar dum Te-Deum e o rufar dum tambor. Dê-se à plebe faminta uma estrondosa orgia, Um banquete real, monstro, — em cenografia! Que bela ideia! Armar de improviso um galeão, —Tábuas, cinábrio, gesso, andrinópla e cartão, — Pô-lo em rodas, tirado a parelhas d'Alter, A corte dentro, o Patriarca, o chanceler, El-rei de coroa d'ouro, a rainha taful, Asas novas de arcanjo, uma branca outra azul, Eu ao leme, pendões, músicas, auriflamas, Bispos e generais, o núncio, arautos, damas, Com brilhantes a arder em veludo e em brocado, —Tripulação enfim de baixel encantado, A navegar de rua em rua, e praça em praça, Atirando à miséria, à nudez, à desgraça, A carga inteira a plenas mãos: lodo em confeitos, Gargalhadas, sermões de entrudo (alguns perfeitos!) Drogas de charlatães, ditos de saltimbanco, Cinza, areia, impudor, fome... e notas de banco! E por último a rir sentamo-nos à mesa, A despejar champanhe em favor da pobreza!
O REI Despovoa-se tudo!
CIGANUS Um êxodo...
OPÍPARUS Senhor, Grande mimo de Deus para um rei caçador! Terra despovoada e morta, sem ninguém, É terra inculta. Bem, perfeitamente bem. Ora uma terra inculta, (é, meu Senhor, um fato)
Não dá vinho, nem pão, nem meloais, — dá mato. E o mato bravo e as brenhas virgens dão a caça Com mais fartura, variedade e doutra raça. Pelos jardins d'agora, em dez anos talvez, Andaremos ao lobo e ao cabrito montês. Olivedos, vergeis, campos, lezirias, prados Criarão a raposa, aninharão veados. E onde hoje há couves e maçãs, El-Rei, feliz, Galopando a primor, monteará javalis!
(Trovão formidando. Um relâmpago lívido abrasa as profundidades cavas do horizonte. As árvores, de súbito, aparecem nuas e hirtas, sem uma folha. Dos ramos, batidos do vento, pendem enforcados. Dir-se-iam esqueletos de árvores gente. Nuvens de abutres pairam em volta, crocitando)
O REI Pavoroso!
OPÍPARUS Ora adeus! nada mais natural: A fome trás a morte, os mortos cheiram mal, E o cheirete dum morto, assim dependurado, Para um corvo é melhor que o dum faisão trufado.
O DOIDO (na escuridão) Olha as macieiras que maçãs que dão: Gangrena por fora, dentro podridão!
Lavrador-coveiro, lavrador-coveiro, As maçãs escusam de ir ao madureiro...
Oh, que estranhos figos que há nos figueirais: Mordidos d'abutres!... Figos que dão ais!...
Lavrador-coveiro, lavrador-coveiro, Colhe-me essas bebras que já têm mau cheiro...
Se é fruta de embarque, vai pelo caminho Desfazer-se toda nos caixões de pinho...
Fruta de tal raça, cavador lunar, Só a quer a Morte para o seu jantar!...
O REI Dou às vezes razão ao tonto do cronista... Que lhe querem! não é agradável à vista, Por noite negra uma bandada de milhafres, Grasnando e devorando, à maneira de cafres, Uma ceia de carne podre...
CIGANUS Que limpeza! Deixe-os comer... deixe-os comer... Varrem a mesa. Mortos e mortos na floresta à dependura, Um açougue... Não há coveiro, nem há cura, Nem tochas, nem latim para tanta carcaça... Os corvos, meu senhor, enterram-nas de graça. Admiráveis glutões, em bambocha funérea Liquidam numa noite a questão da miséria. Jantam-na. Devorado o problema. Afinal Restam ossos; convêm: tem fosfato de cal, Bom adubo... E no entanto o país, meu Senhor, É uma beleza! uma beleza! encantador! Trinta portos ideais, um céu azul marinho, A melhor fruta, a melhor caça, o melhor vinho, Balsâmicos vergeis, serranias frondosas, Clima primaveral de mandriões e rosas, Uma beleza! Que lhe falta? Unicamente Ouro, vida, alegria, outro povo, outra gente. Raça estúpida e má, que por fortuna agora Torna habitável este encanto... indo-se embora! Deixe morrer, deixe emigrar, deixe estourar: Dois boqueirões de esgoto, — o cemitério e o mar.
Que precisamos nós? Libras! libras, dinheiro! Libras d'ouro a luzir! Onde as há? No estrangeiro? Muito bem; o remédio é claríssimo, é visto: Obrigar o estrangeiro a tomar conta disto. Impérios d'além-mar, alquilam-se, ou então Sorteados, — em rifa, ou à praça, — em leilão. E o continente é dá-lo a um banqueiro judeu, Para um cassino monstro e um bordel europeu. Fazer desta cloaca, onde a miséria habita, Um paraíso por ações, — cosmopolita. Dar jogo ao mundo, ao globo! uma banca tremenda! Cálculo eu daí uns mil milhões de renda. O comércio, dez mil... O trânsito, sem conta... Cifras, Senhor, de por uma cabeça tonta! De minuto a minuto, expressos e vapores, Sempre a golfar carregações de jogadores, Montões de malas, sacos d'ouro, (libras, luíses!) Nuvens de cortesãs, dançarinas e atrizes, Equipagens, Barnoums, touristes, saltimbancos, Vinte raças, — mongóis, negros, mestiços, brancos, Um ruidoso vaivém humano que circula, Todo fausto, esplendor, alta luxúria e gula, O milord, o nababo, a Rússia, a Índia, a América, Numa promiscuidade esplêndida e quimérica! E todo este país, éden de rega-bofe, Iluminado à noite a faróis Jablokof! Que maravilha! que surpresa! que grandeza! E que tesouros nesta rica natureza, Cultivando-a a primor! Em lugar d'erva e searas, Plantas de luxo: coisas finas, coisas caras. Eu imagino, (dando os máximos descontos) Que o reino lucrará uns trezentos mil contos, Somente a produzir, ao ar livre e em estufas, Ananases, faisões, ópio, champanhe e trufas.
(Relâmpagos e trovões. Paisagem deserta. A nau fantasma, cortada a amarra, bamboleia nas ondas, prestes a largar. Uma sombra disforme, como de ave gigante, voa na escuridão)
O REI Um bacamarte! uma clavina! uma escopeta!... Cheguem daí... salta depressa uma escopeta! Salta depressa! que vão ver como rebento Às escuras aquela águia... É num momento Já duma ocasião, (que pontaria a minha!) Com um balázio matei oito: iam em linha. A escopeta, marquês!
CIGANUS Não lhe serve de nada; É a bandeira do castelo. Uma rajada Sem dúvida, Senhor, quebrou o mastro e leva Num frangalho o pendão errante pela treva.
OPÍPARUS Ótimo! de manhã flutuará no baluarte Pendão novo. Tem cinco quinas o estandarte; Uma quina de mais; suprime-se, é evidente: Nos baralhos, Senhor, há quatro unicamente.
(O navio fantasma, que levantou ferro, desaparece ao longe)
O DOIDO (na escuridão) Ó nau gigante, ó nau soturna, Galera trágica e noturna, Que levas, dize, no porão?...
O vento chora sobre o mundo, Chora de raiva o mar profundo... Que levas, dize, no porão?...
A lua, aziaga e macilenta, Olha-te exânime e sangrenta... Que levas, dize, no porão?...
Asas carnívoras em bando Pousam nas vergas crocitando... Que levas, dize, no porão?...
Teu cavername exala miasmas, Teus marinheiros são fantasmas... Que levas, dize, no porão?...
Teu pendão negro vai a rastros, São cruzes negras os teus mastros... Que levas, dize, no porão?...
— Dentro do esquife, amortalhada, Levo uma pátria assassinada, No meu porão!...
O REI Este ladrão do doido irrita-me! é demais! Não se cala, caramba! é demais! é demais! Já não posso... Marquês, se o diabo me inferniza, Outra noite com a lengalenga; uma camisa De forças, bom vergalho, e, sem dó nem piedade, Enxovia ou masmorra onde grite à vontade.
(Abre um relâmpago o horizonte. As carcaças nuas dos enforcados balouçam ao vento nas árvores despidas. Nem viv'alma. No cerro dum monte erguem os piratas uma cruz descomunal, manchada de sangue. Uivam os cães)
O REI Uma cruz negra além!...
CIGANUS Onde?... Não vejo nada...
O REI Uma cruz toda negra e toda ensanguentada!...
CIGANUS Foi decerto ilusão... (Rindo) É calvário feroz Que espera alguém...
OPÍPARUS Nenhum de nós... nenhum de nós... Poderemos dormir tranquilos, sem receio Dum calvário onde apenas haja a cruz do meio...
(Uivam os cães sinistramente)
O DOIDO (na escuridão) Em noite sem lua, numa nau sem leme, fui descobrir mundos, Mundos pelo mar... O vento sopra, o vento sopra... Quanta areia negra faz turbilhonar! — Mundos a voar... mundos a voar...
Por manhã dourada, galeão dourado vinha cheio d'ouro!... Rubis cintilantes, Pérolas, diamantes... Vinha cheio d'ouro... O vento sopra, o vento sopra... Que cinza de campas se alevanta ao ar... — Meu ouro a voar... meu ouro a voar... Castelos nas praias, galeras nas ondas, reinos d'além-mar!... O vento sopra, o vento sopra... Que bandos de nuvens!... vão-se a desmanchar!... Castelos... galeras... reinos d'além-mar...
Foi um sonho lindo... foi um sonho lindo... Como é bom sonhar!... Acordei sem alma... quem me encontra a alma... Quem ma torna a dar! Queimou-se o casebre... só tições escuros, só carvões escuros, Inda a fumegar... (Quem ma torna a dar!) Que bem dormiria debaixo dos muros... Tão quente!... debaixo das pedras do lar! Oh, que inverneira! oh, que inverneira! Crestou-me o vinhedo, secou-me o pomar! A terra levou-a... deixou-me só fragas... Deixou-me só fragas, para as eu calcar... Peguei na minha dor, botei-a às fragas... Não tinha mais que semear! O que viria, o que viria Da minha dor na primavera a rebentar?... Um tronco despido me brotou das fragas, (Que singular! que singular!) Um tronco despido, Sem ramos, sem folhas... um tronco no ar! Depois medrou tanto, como por encanto, Que andadas três luas era secular! E nem uma folha e nem um raminho, Onde um passarinho pousasse a cantar!... Um tronco no ar! Mas de repente, de repente Deitou dois braços, logo um par! Braços estendidos, abertos e nus, Como que a chamar... como que a chamar... Mas, oh Deus! que vejo! uma perfeita cruz, Uma cruz erguida sobre um grande altar!... Minha dor nas fragas, entre uns estilhaços De rochedos duros no que veio a dar!... Inda bem! Ora inda bem que já no mundo há braços, Para me abraçar!...
O REI Já estou farto de cantochões, de ventania E dos agouros!... Passa das três; é quase dia... Vamos dormir... (Apontando o pergaminho) Cá deixo esta léria assinada. Falaremos depois. Rendez-vous na tourada.
CENA XII
O REI (só, ao fogão, olhando o pergaminho) Belo! toca a assinar o papelucho e cama. Vão-se os pretos! Adeus, pretangada e mourama! Inda bem! Já ninguém desde hoje me seringa, Levantando questões dum cafre ou duma aringa. Durmo esta noite como um odre. Para insônias O remédio é mandar à tubua as colônias. Que se governem! tudo nos quintos! tudo à fava! (Olhando os retratos da dinastia) O que diriam disto os maganões?... Gostava Duma palestra com vocês... Vinha n'altura...
(Trovão retumbante. Os cães ululam. Diante do rei, varado de assombro, ergue-se de improviso o fantasma de D. João IV. O rei quer falar, quer fugir, mas paralítico de medo, olhar atônito, nem um gesto, nem um ai, nem um grito. Desfalece, caindo imóvel)
CENA XIII
O ESPECTRO DE D. JOÃO IV (ar untuoso, manhoso, beato, falso e pusilânime) Tens medo de assinar? Pesa-te a assinatura? Vais ouvir meu conselho:
Ânimo bravo e ardente, Em lacaios fiéis predicado excelente. Num monarca já não... A fraqueza traiçoeira, D'olhos de lince e passos mortos de toupeira, Vence tudo... Precisa um rei de heroísmo audaz? Serve-se dos heróis e fica ele em paz. Nada que nos perturbe a digestão e o sono; Para dar bom assento é que se fez o trono. Os reis são reis e os homens cães, em vário estado: Ou cães de caça ou cães de fila ou cães de gado... Mas tudo cães. Chicote a uns e a outros festa, Eis do governo a arte; é bem clara; só esta. Com os homens, assim. Com Deus, trato diverso. Tu és o rei dum povo, ele o rei do universo. Depois da morte há inferno e paraíso; então Lida sempre com Deus, como bom cortesão. Vale a pena. Medita as chamas infernais, As mil cobras de fogo em doidas aspirais, Enleadas a nós!... que tortura! que horror! Ah, vale a pena servir Deus e ter-lhe amor! Não só a Deus; aos santos todos! E a Maria, À Virgem-Mãe, oh filho! a essa, noite e dia É rezar; é rezar de joelhos na capela! A nada atende Deus como a um pedido dela.
Firma o tratado. Firma-o de pronto e sem receio. Entre as hostes iguais a dúvida, no meio, Hesita, é bem de ver... Mas neste caso, em suma, Não encontra a razão hesitação alguma. O teu povo dum lado e o bretão do outro lado; Ora, entre um borrego e um leopardo esfaimado, Não há brio a atender, há vida a defender. O leopardo é o mais forte: assina... tem de ser. A fera vem bramindo e quer do teu jantar; Chicoteá-la? Não; pode-te estrangular. Dividirás com ela; e tu, quietinho e manso, Fica à mesa comendo o resto com descanso.
Creio que para ti e para herdeiros teus Há de ainda chegar talvez, graças a Deus. Graças a Deus e à Virgem-Mãe, a quem eu dei A tutela do reino e o coração do rei. (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Dum duque fiz um rei; e o rei me disse: Vamos Ouvir à igreja (era de noite) o meu Te-Deum laudamus. Era de noite... era de noite... na encruzilhada, Quando me viu, cantou um galo preto uma alvorada. Bonita festa, (disse eu entrando) bonita festa! Que igreja esta Tantos panos escuros... tantos panos escuros, Velando os muros! E um esquife sombrio Num catafalco... um grande esquife negro, inda vazio!... Mas coisa horrenda e de pasmar, O altar! o altar! Crucificado num madeiro um cordeirinho branco exangue E treze tochas de gangrena azul, chorando sangue!... Veio da sacristia a clerezia... Olhai, olhai O padralhame que aí vai! Raposas sarnentas e lobos gordos ulcerados, — Dominus vobiscum! — todos paramentados e mitrados. E era um bode de andaina vermelha o sacristão, Um bode corcunda, ventrudo e lanzudo, galhetas na mão. E quem cantou a missa de pontifical Foi o rei! era o rei... tal e qual! tal e qual! Mas tinha rabo de raposa e tinha olhos de chacal! Cantava de papo, cantava de papo, E a boca imunda, sem tirar nem por, uma boca de sapo! O Espírito baixou então divinamente, Pousou no rei, e o rei lhe disse: — Olá! olá, Vicente — E as dois órgãos ao fundo, que rouquidões! Grunhindo trovões por entre os cantochões! E toda a padralhada, no seu cartimpácio,
— Oremus! Oremus! Santo Inácio e mais Santo Inácio! — E ao levantar a Deus enfim, De hóstia e cálix na mão, o rei voltou-se para mim: — Este vinho é o meu sangue. Este pão negro é o meu corpo: Toma lá o meu sangue, toma lá o meu corpo. — Cuspiu no cálix, deu-mo a beber, bebi... bebi... E a hóstia impura, nem sei de azeda como a engoli! E envenenado fiquei... envenenado fiquei Pelo corpo do rei, pelo sangue do rei! Envenenado e paralisado, Mas inda a ver, inda a sentir... como um dormir De defunto acordado... Então o rei pegou num cutelo, abriu-me o peito, Meteu as mãos... e tirou-me a alma com todo o jeito! Era uma virgem, corpo de deusa, branca e nua, Como que feita, num sonho triste, do alvor da lua... A minha alma aquela! a minha alma aquela! Oh, nunca a imaginei assim, tão formosa e tão bela! Mas que ar de nojo e de amargura Envolvendo-a, pálida e branca, em noite escura! Deitaram-na ao caixão, pregaram-lhe a tampa às marteladas, E o rei: — Oremus! Oremus! Oremus! — Às gargalhadas. E no madeiro o cordeiro manso, dolorido, Deu o seu último gemido... E expiraram no altar As treze velas bentas de rosalgar... E a clerezia pela noite, em chusma, como assombros, Debandando e levando o esquife, aos encontrões, nos ombros... E a mim deitaram-me a dormir num fraguedo deserto, Sem alma, com o peito um rasgão de sangue, todo aberto!... Ei-lo aqui... ei-lo aqui... Nunca o deixei cicatrizar... Que é para a alma, quando me volte, poder entrar... As almas não morrem... As almas não morrem... Nem Deus, tendo-as feito, é capaz de as matar!...
CENA XIV O ESPECTRO DE D. AFONSO VI (que entra alucinado, hemiplégico, azorragando, furioso, uma matilha de cães imaginária) Ah, marotos! ladrões!... ladrões!... perros danados!... Vão inda perseguir-me à tumba estes malvados! Assassinos! ladrões! Nem no sepulcro existe Repouso para um morto, alívio para um triste! Nem debaixo da terra enfim, víboras más, Me deixais, me deixais apodrecer em paz! Nem morto dormirei... coitada criatura! E como o sono eterno é bom, ó noite escura!... Ah, como é bom dormir... dormir... dormir... dormir!... Não ter alma, não ver, não gemer, não sentir!... Sem reino, sem mulher, sem irmão, sem cuidado, Dormir... dormir!... Que brando leito de noivado!... ..................................................... Mas foram-me acordar, os malditos!... Já sei... O que querem de mim... Já sei... Já sei... És tu, El-Rei? Foi mandado Del-Rei... Já sei... lembro-me agora!... ..................................................... Assina tudo... assina tudo e sem demora. Tens medo de perder o trono, de o largar? Ah, deixa-o ir, deixa levar, deixa roubar!... Que leve trono e cetro e coroa quem quiser... Para ti... para ti... guarda os cães e a mulher. Guarda a mulher... guarda a mulher! Bem conta nela! Tens irmão? Tens irmão!... Pobre de ti!... cautela!... Não há crer em irmãos, nem há fiar em mães! Que levem tudo, tudo... exceto a amante e os cães!... Oh, as noites d'amor!... oh, as manhãs de caça!... (Indo a sair e parando de repente, ao ver os cães) Tens fracos cães... Adeus... Fracas ventas... má raça!...
O DOIDO (na escuridão) Quem me roubou da fronte o meu diadema?... Quem ostenta na fronte o meu diadema?... —Teu irmão! Teu irmão!
Quem abraça a rainha no meu leito?... Alva, loira e mimosa no meu leito?... —Teu irmão! Teu irmão!
Quem bate as brenhas com meus cães de caça, Ao luzir d'alva com meus cães de caça?... —Teu irmão! Teu irmão!
Quem nesta campa me enterrou em vida?!... Quem nesta campa me enterrou em vida?!... —Teu irmão! Teu irmão!
Ai, arranca-me os olhos por piedade! Ai, arranca-me a vida por piedade! Irmão! irmão! irmão!!...
O ESPECTRO DE D. AFONSO VI (assomando ao balcão) Um doido enorme! além... na escuridão... além... Doido sou eu também... doido sou eu também... Pobre doido!... infeliz... coitado! algum irmão Lhe roubou a mulher... (Ao rei) Tens mulher?... Tens irmão?... Não há crer em irmãos, nem há fiar em mães... Guarda a mulher... (Desaparecendo) Oh, que estupor de cães!... oh, que estupor de cães!...
CENA XV O ESPECTRO DE D. PEDRO II (tipo de valentão de cavalariças, brigão de estúrdias, sanguinário e crapuloso, sifilítico e bêbado) Tu sabes escrever? Assina. Por que não? Ora o grande poltrão, Que é preciso borrar-se e andar de n'águas sujas, P'ra lançar no papel, conho! três garatujas! Medo de quem? Do povo? O povo com que lidas É cavalo velhaco e de manhas sabidas. Montá-lo com temor? Adeus! cospe-te fora. Mas, sentindo-te firme e nos ilhais a espora, Cai-te em breve a mão e a preceito o governas. E, se escabreia, ai dele! estourá-lo entre as pernas. Vamos nós a saber, diz-me lá sem rodeios: És homem? quer dizer: — tem-los bons? — tem-los cheios? Meu irmão não os tinha, E por isso ficou sem reino e sem rainha. Para inimigos forca; ou antes emboscadas, Despachando-os de vez a tiro e a cutiladas. Pedem tais aventuras Gente rija; hás mister de quadrilhas seguras: Mulatos, valentões, brigões, ralé feroz, Que te adivinhe o olhar, pronta à primeira voz. Tive-os duros de lei! homens sem embaraços Para estourar, de frente, o diabo a clavinaços! À nobreza mercês e favor... mas cautela! Desconfia, vigia... e reparte com ela. Enfim, guarda bem paga, alerta e satisfeita, E atrás de cada muro um cão de lobo à espreita. E nada mais, e nada mais! gozar, gozar À vontade e sem medo, até Deus te levar: Correr touros, domar corcéis, adestrar forças, Batidas pelo monte ao javali e às corças, Mesa opulenta, vinho antigo, cama vasta, E fêmeas boas e a granel, de toda a casta!
Mulherio de truz, às dúzias, sejam elas Freiras ou barregãs, com marido ou donzelas. E agora, adeus. Assina. Os ingleses, que diabo! É quem nos vai guardando os fagotes, e ao cabo, A troco duns sertões com negros de má raça, Mercam-nos inda a pinga e vestem-nos de graça! (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Era a rainha uma sereia, Corpo de neve... Ameia-a e desejei-a. Meu irmão era o rei; sem dor e sem abalo, Mandei matá-lo. Arranquei-lhe do peito o coração: Batia inda por ela... Dei-o a um cão. E fomos para a igreja iluminada Eu, meu irmão e a minha amada. Nós a casar, Ele a enterrar. Quem me casou a mim Disse-lhe a ele o último latim. A sepultura Tinha quarenta braças de fundura. Despenhado o caixão, entulhou-se o coval De pedra e cal. Boas noites, irmão!... Boas noites, irmão!... E fui-me alegremente, oh, que ventura a minha! A noivar com a rainha. Deitamo-nos na cama, apagamos a luz, E ao irmos enlaçar, furiosos e nus, Como doidas serpentes, Os desejos ardentes Abraçamos, horror! na escuridão, Entre nós dois, amortalhado e morto, meu irmão! Meu irmão! meu irmão!... Era ele... apalpei-o... Lá estava escancarada a facada no seio...
Meti-lhe dentro a mão... Não achei coração... Era ele! era ele! era ele! Cuidei em no matar, sem me lembrar Que já morrera!... Louca, a rainha tremia... Quis atirá-lo ao chão... era de bronze! era de bronze, não podia. Quisemo-nos erguer, fugir, fugir!... e de repente Quedamo-nos os dois paraliticamente, Ali imóveis, sem um gesto, sem um grito, De sentinela toda a noite ao cadáver maldito!... Oh, noite imensa! Oh, noite imensa! Oh, noite imensa! Que eternidade!... Enfim, desmaiada e gelada, Eis a alvorada! Erguemo-nos do leito... E o morto, aconchegando o sudário no peito, Cravou em nós, indo-se embora, Aquele olhar noturno e triste que apavora!... Fitamo-nos então os dois amantes: Oh, que semblantes! Nosso cabelo em desalinho, Alvo de arminho, Acusava dez séculos de dor! Brando leito d'amor!... brando leito d'amor!... Todas as noites depois dessa, todas, todas, Vem meu irmão às minhas bodas! Deita-se entre nós dois amortalhado Até ser dia... Que noivado!... oh, que noivado!... Não te quero ver mais, ó meu algoz, ó meu espectro! Leva a rainha... leva a coroa... leva o cetro... Leva-me tudo e deixa-me dormir, Dormir em paz!... dormir! dormir! dormir! dormir!...
CENA XVI O ESPECTRO DE D. JOÃO V (velho, asqueroso, idiota, meio paralítico. Tartamudeia desconexamente, embrulha a ladainha com a Martinhada, engole uma hóstia santa, depois uma pastilha afrodisíaca, geme, chora, dá um arroto, baba-se e desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Mora num convento, com onze mil freiras, Um bode dourado, chamado Sultão: São moças as monjas, loiras ou trigueiras, E o bode frascário como um garanhão. Ao dar meia-noite, com fúria insensata, Na torre da igreja dobra o carrilhão; Martelam nos sinos badalos de prata, De imunda, de horrível configuração!... Milheiros de luzes, brandões macerados Tremulam no templo... que imenso clarão! Faíscam diamantes, lampejam brocados, Incenso da Arábia voa em turbilhão! Os santos e as santas, alfaias e altares, É tudo ouro virgem, que cintilação! Crepitando fogos de gemas solares, Topázios da Pérsia, rubis do Indostão. Debaixo dum pálio de lhama purpúrea Levanta-se um leito rútilo e pagão: O leito do bode, Senhor da Luxúria, Com mais pedrarias que o de Salomão. Já o órgão reboa, frementes e nuas, As onze mil monjas vêm em procissão... Os olhos de chama, traseiros de luas, Rezando palavras de abominação!... Mitra coruscando, sedas fulgurosas. A cruz sobre o peito, báculo na mão, Conduz a teoria das monjas ansiosas, Um bispo castrado, que é seu guardião. O bode rebrame no leito de pluma... Acercam-se as freiras... e o bispo capão
Entrega-as ao bode, dá-lhas uma a uma, Com ar de respeito, com veneração... São onze mil noivas, são onze mil bodas... Formidavelmente gira o corrilhão... E o monstro lascivo padreia-as a todas, Num delírio tremens de fornicação! Depois do execrando, bruto cevadouro, O bode, desfeito de devassidão, Toma um semicúpio numa concha d'ouro, Em água benzida pelo capelão. E, sinos calados, extintas as luzes, Entregues as freiras ao seu guardião, Persigna-se o bode, fazendo três cruzes, E em paz adormece como bom cristão. E ao cabo duns meses, final de tais contos, As monjas nas celas, com toda a razão, Parem arcebispos, mitrados e prontos, Exemplo mui alto de grã devoção!...
CENA XVII
O ESPECTRO DE D. JOSÉ (que vem de manso, desconfiado, olhando à volta, como temendo o quer que seja. Depois, baixinho, ao ouvido do rei) O marquês não está?... Vê lá... Guardas segredo? Então assina... Adeus... pode vir... tenho medo!... (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Diz o rei à amante: "Vem para os meus braços!" — Ardem nos teus braços nódoas do meu sangue!...
"Vem para os meus braços, dorme no meu peito..." — Ardem no teu peito nódoas do meu sangue!...
"Dorme no meu peito, junto dos meus lábios..." — Ardem nos teus lábios nódoas do meu sangue!...
"Oh, que ideias loucas, meu amor dourado!... Fui à caça aos lobos, venho ensanguentado."
Deitam-se na cama... Longe, ao pé do mar, Centos de martelos, truz! a martelar!...
— Ai, levantam forcas!... Pesadelo horrendo!... "Um bergantim d'ouro que te estão fazendo..."
Beija o rei a amante com lascivo ardor... Vem da noite funda gritos de estertor...
— Matam-me os parentes!... bem lhes ouço os ais!... — "São as rolas, filha, pelos pinheirais..."
Beijam-se um ao outro, presos por abraços, Sente-se nas trevas um mover de passos,
E entram degolados, arquejando arrancos, Três fantasmas, vede-os! com sudários brancos!...
CENA XVIII
O ESPECTRO DE D. MARIA I (louca, furiosa, delirando) Meu pai!... meu pai!... meu pai!... meu pai!... Castigo eterno, chamas do inferno!... Meu pai!... meu pai!... Olha os diabos... olha os diabos... Coriscos os cornos, serpentes os rabos!... Ui! o marquês!... ui! o marquês!... Num caldeirão em brasa, a derreter em chumbo, a ferver em pez! Vão-me coser! já estou a arder! já estou a arder!...
Kirie Eleison! Kirie Eleison! Kirie Eleison! Miserere nobis! ora pro nobis! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Levem a purga!... levem a seringa!... não me quero purgar! Não me quero purgar... não tenho ventre... sou feita de ar... D. Rosa! D. Rosa! ó D. Rosa!!... Acode depressa! anda depressa, que me deitam ao mar!... (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Satanás, zombando, fez um rei de espadas, Fez um rei de espadas com um cão tinhoso; Com o cão tinhoso fez um sapo coxo; Com o sapo coxo fez um porco bravo; Com o porco bravo fez um bode d'ouro; Com o bode d'ouro fez um corvo negro; Com o corvo negro uma galinha doida... Kó-kó-ró-có! Ká-ká-rá-cá?!... A galinha doida que é que parirá?!...
CENA XIX
O ESPECTRO DE D. JOAO VI Toca a sentar! deixa sentar esta carcaça, Já roída do bicho e comida da traça! Um corpo que pesou talvez seus dois quintais, Ou mais, Hoje é isto! olha lá, mira-me bem em torno: Uns vinte arráteis d'osso e outros tantos de corno! P'ra que diabo é que Deus fez a alma imortal, Não me dirão?! O corpo, acho eu natural Que engordasse e medrasse em paz na eterna glória; Mas a alma! ora sebo! Uma alma incorpórea, Sem boca, sem nariz, sem barriga, sem nada, Que não come um leitão, nem funga uma pitada,
Deus me perdoe a asneira, uma endrômina assim, Inda que ele a engenhou, não me convêm a mim! A morrer por morrer, antes a alma; em suma, O desgosto era leve, a perda era nenhuma. E o corpo desalmado, escorreito e perfeito, Esse é que Deus com todo o jeito O devia levar, dando-lhe a eternidade, P'ra comer como um porco e roncar como um frade. Neste mundo em que estou, nesta vida infinita, Grande falta me faz a barriga, acredita! Os miolos, já não... E, caso estranho, agora Penso muito melhor do que pensava outrora... Dão-me ideias! que espiga!... Atribuo tais fatos A andar-me na caveira uma porção de ratos. Ideias!... Qual a ideia humana, por sublime, Que se compare ou se aproxime Dum peru com arroz, bem gordo e bem tostado?! Que é a vida? jantar! E a morte? ser jantado! Comer ou não comer, eis a eterna questão. Mas comer com descanso e com satisfação. Comer em paz; sem um remorso e sem fadigas. Nada de inquietações mortais, nada de brigas! Temor a Deus, mesa de abade, cama quente E rir a gente! Eu fui um infeliz como não há segundo, Um mal-aventurado aos tombos pelo mundo! A mulher uma cabra; os filhos um veneno; Sustos; o hemorroidal, vê lá, desde pequeno! E não parar! sempre em bolandas, sempre à toa... Que vida! E como a vida, apesar disso, é boa! Oh, cantochões em Mafra!... oh, merendas no Alfeite!... Oh, sestas de Queluz em Junho!... Que deleite!... Manda ao demônio a guerra, a mulher e os cuidados! Enfardela-me aí cem milhões de cruzados Em peças d'ouro, assina o que tens de assinar, Veste o capote, leva a coroa e põe-te a andar! Deixa os ingleses... Fracas bestas!... raça vil!...
Muda-te para o Brasil... Muda-te para o Brasil! Fruta maravilhosa e súbditos leais... Eu, no teu caso, até não voltava cá mais. E o povo, adeus!... que se governe... enfim, paciência... E cá lhe fica, que mais quer? a Providência!... Boas noites... É tarde... o sepulcro me chama... Vou-me deitar... Que fria e triste a minha cama! Gelo e chumbo!... Os lençóis, farrapos com matéria, Nem me tapam sequer os ossos, que miséria! E depois sobre mim, em cardumes, aos centos, Pulgas da eternidade, os vermes fedorentos! Ai, no jazigo escuro, a esfarelar-me em pó, Consola-me uma ideia única, uma só: Não tornar a sofrer (oh podridão calada!) Nem de hemorroidas, nem de gases, nem de nada!... (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Que noite escura! Que noite escura! Bramem as ondas cavernosas... A grande armada vai largar... Oh, a armada do rei!... oh, as naus pavorosas Na escuridão, turbilhonando, a balouçar!... São esquifes mortuários, São féretros com velas de sudários, Tumbas negras nas ondas a boiar!... Ai que gemidos, que alaridos De multidões na praia, olhando o mar!... Lá vem o rei... lá vem a corte... e luzes, luzes De brandões, de tocheiros a sangrar... Vai a embarcar?... vai a enterrar?... Não trazem cruzes, Nem há sinos por mortos a dobrar... Oh, a lúgubre, estranha comitiva A bandada de espectros singular!... É gente morta?... é gente viva?... Procissões de defuntos a marchar!...
Cortesãos, cavaleiros e soldados, Tudo esqueletos descarnados, Olhos de treva e crânios de luar!... Ladeiam coches fúnebres dourados... São os coches Del-Rei... vai a enterrar?... Lá se apeiam as damas das liteiras... Gestos de manequins, rir de caveiras... Fitas e plumas soltas pelo ar... Olha a rainha, vem em braços, morta e doida. Morta e doida a clamar que a vão matar!... E o rei!... olhem o rei!... que rei de entrudo!... Um porco em pé, com manto de veludo E coroa na cabeça, a andar, a andar! Mas reparem... tem cornos! é cornudo! Dois chavelhos de boi no seu lugar! Um rei, que é porco e tem chavelhos! Um rei, que é porco e tem chavelhos! Que fantasia! enlouqueci... ando a sonhar!... Mas bem no vejo! eu bem no vejo, Coroa de rei, tromba de porco e chifres no ar!... ................................................. Cai de rastros, chorando, o povo inteiro, Beija-lhe a corte as patas e o traseiro... E ele a grunhir! e ele a roncar!... ................................................. Lá vão as naus... lá vai o rei com seus tesouros... E lá ficam na praia, como agouros, As multidões soturnas a ulular!... ................................................. ................................................. Olha uma águia rubra, uma águia bifronte, Incendiando o horizonte, A voar, a voar, a voar!... Ai dos rebanhos!... ai dos rebanhos!... Águia de extermínios, onde irás pousar?!
CENA XX
O ESPECTRO DE D. MARIA II Inclina um rei perante um rei (somos iguais) A realeza. Perante um vassalo, jamais! O monarca ao monarca (é irmão com irmão) Dobra o orgulho sem infâmia; o rei ao povo, não! Assina, e já! Príncipe vil, que se amedronte, Usa, mas sem direito, um diadema na fronte. Povo em rebelião, não é povo, é canalha. Beija-te os pés? — indulto. Ergue o braço? — metralha. Faltam soldados e clavinas? Pouco importa: El-Rei de Espanha os mandará; tem-los à porta. (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) Tremia a rainha de me ouvir cantar... Oh, loucura minha, desventura minha! Cantigas são asas, fazem-nos voar... Mandou-me prender, mandou-me espancar.
E eu desatei a rir, eu desatei a rir, E três dias cantei com mais três noites a seguir!...
Não dormia a rainha de me ouvir cantar... Oh, loucura minha, desventura minha! Cantigas são graças para não chorar... Mandou-me prender, mandou-me enforcar.
Chegaram as tropas e eu, desarmado, Zás! desbaratei-as com o meu cajado!
E pus-me a cantar! e pus-me a cantar!
Tremendo, a rainha disse então ao rei: "Enquanto o não matem não descansarei.
Com teus cavaleiros vai-mo tu buscar, Traz-mo aqui de rastros para o degolar."
Veio o rei à frente dum grande estadão, Zás! desbaratei-o com o meu bordão! É de temer, é de temer Um doido varrido com um pau na mão!...
E sempre a cantar! e sempre a cantar!
Então a rainha, vileza traiçoeira! Chamou inimigos d'além da fronteira... E tantos! e tantos!... Que havia de eu fazer?... Quebrei de raiva o meu bordão e deixei-me prender...
Levado de rastros aos pés da rainha, Cuspiu-me na cara! Oh, vergonha minha! por fortuna minha, Melhor me matara!... melhor me matara!... O gosto que teve durou-lhe bem pouco... Foi ela que morreu!... foi ela que morreu!... Vi-a passar já no caixão, ia a enterrar... E sabeis o que eu fiz? (o que é ser louco!... o que é ser louco!...) Desatei a chorar!...
CENA XXI
O ESPECTRO DE D. LUÍS Que remédio, meu filho! assina tudo... assina tudo... Glória, Pátria, Dever, Bom de dizer! Assina tudo e vai andando... vai andando... Do mister de reinar, que Deus te deu em sorte, Faz, como eu fiz, modo de vida e não de morte. E a vida é boa!
A alegria do sangue, os regalos da Coroa, A mulher, o charuto, o livro, o leito, a mesa, Lista civil, paz e descanso... Com franqueza, A vida é boa, e vale a pena de a gozar, Como néctar precioso e raro, — devagar! Com um pouco de astúcia, um pouco de bondade, Covardia risonha e indolência de frade, Conseguirás viver alegríssimamente Até ser posto de escabeche em São Vicente. E, se o destino te arrancar o cetro, vai-te embora Filosoficamente, sem demora, Dedicando no exílio uns ócios eruditos A traduzir em português os meus escritos... (Vai a sair e retrocede) É verdade, Pedro faltou... faltou... não veio... Pedro! meu pobre irmão! Acordei-o, chamei-o, Quis levantar-se, ergueu a fronte, abriu o olhar, Exalou um suspiro... e tombou a chorar!... (Desaparece)
O DOIDO (na escuridão) O reino é podre... o rei é podre... Oh, que fedor! oh, que fedor! Quando a planta apodrece, a podridão Germina em margaridas pelo chão... Quando apodrece a carne, a sepultura Touca-se de verdura... Lepras e pus, chagas e cancros Dão jasmineiros, dão lírios brancos... Mas do reino e do rei apodrecido, Oh, que fedor! oh, que fedor!... que tem nascido? Mais podridões a fermentar, Envenenando a terra, envenenando o ar. A gente morreu toda envenenada... É cor de sangue a lua, é de crepe a alvorada!... Desfolharam-se os bosques pelos montes, Há nas rochas gangrena, há peçonha nas fontes!
Destruíram-se os ninhos E emigraram, chorando, os passarinhos! Vivo, só eu fiquei neste monturo De lodo escuro! O reino é podre... o rei é podre... tudo é podre... Oh, que fedor! oh, que fedor!...
O REI (volvendo a si, atônito e desordenado) Olho e custa-me a crer!... tonto!... a cabeça vária, À roda... Já nem sei... Que noite extraordinária!... Que noite!... aparições, visões, trovões, um pandemônio De inferneiras, de bruxarias do demônio!... Eu estarei doido ou estou sonhando?!... Que aventura! oh que aventura Monstruosa!... Perco a razão... foge-me a vista... O ladrão do maluco e o diabo do cronista Deram-me volta à cachimônia, esfutricada Já de tanto banzé e de tanta noitada!... Quem pudesse dormir!... (Vendo o pergaminho) Assinemos de vez Esta léria... Assinando e chamando: Marquês! (Aterrado, em altos gritos) Marquês! marquês! marquês! Raios os partam! ninguém ouve... tudo dorme!... Sozinho!!...
O DOIDO (na escuridão) Oh, que fedor!... oh, que fedor!...
O REI Ah, o mostrengo enorme, Eu lhe darei a cantilena!... Para agouros, Quatro estouros à queima-roupa! quatro estouros!
(Surge o espectro de Nuno Álvares, vestido de monge carmelita. O rei desfalece de novo. Os cães investem, mas, diante do olhar sobre-humano do condestável, recuam trêmulos, como obedecendo a um fluído mágico).
O ESPECTRO DE NUNO ÁLVARES Por teus avós chamaste. Um falta ainda, Falta a raiz da árvore de morte, Que em ti, vergôntea exausta, expira e finda.
Oh, miseranda, lastimosa sorte, A deste coração desbaratado, Que outrora se julgou tão puro e forte!
Deu com ele a gangrena do pecado, Qual um bicho escondido que apodrece Um deleitoso fruto embalsamado.
Nada valem tenções, nem vale a prece: É das obras que vem à criatura O galardão e a pena que merece.
Não acuso de ingrata a sorte dura; Volvo-me contra mim unicamente Em meu desassossego e má ventura.
Tamaninho inda eu era, inda inocente, Alma cândida e pura, como a rosa Aberta junto d'água ao sol nascente
Quando uma noite uma visão formosa Me aparece e me diz com voz divina, Ao mesmo tempo clara e misteriosa:
"Li numa estrela d'ouro a vária sina Que a esforçadas, magnânimas empresas E a feitos não obrados te destina.
Mas que valem altíssimas grandezas, Mas que valem as pompas e as vitórias, Se a mundano desejo andarem presas?!
Só da fé, só do bem quedam memórias; Tudo o mais é poeira, um vão ruído, Uns tumultos de sombras ilusórias...
Cavaleiroso coração ardido A grande termo levará seus feitos, Quando ponha em Jesus alma e sentido.
Melhor que duro arnez, defendem peitos Virtude adamantina e graça clara, Com que Deus abroquela os seus eleitos.
Sê casto como a luz beijando a seara, Firme qual entre as ondas o rochedo, Manso como ovelhinha em pedra d'ara.
E, como o sol d'abril veste o arvoredo, D'armas resplandecentes vestirás O teu corpo d'herói, viçoso e ledo.
Só pela Pátria e Deus batalharás. De tua larga mão caiam na terra, Num gesto grande a beatitude e a paz.
Seja neve dos píncaros da serra Teu limpo coração, bondoso e humano, Quer na tranquilidade, quer na guerra.
A tirania ao fim pune o tirano. Contra o injusto volta-se a injustiça, E a maldade é aos maus que faz o dano.
Arreda para longe ódio e cobiça; Contra fero inimigo um bravo alento, Contra amargura e dor alma submissa.
Viva dentro da carne o pensamento, Na pureza da virgem confinada Dentro da cela branca dum convento.
E a carne exultará transfigurada, Qual a nuvem escura em céu ligeiro, Em lhe batendo a luz da madrugada.
De tal guisa, vencendo-te primeiro, A todos vencerás como um leão, Formidável e nobre cavaleiro.
E de Cristo e da Pátria em defensão Brilhará tua lança como um raio, Mandará tua voz como um trovão!"
Assim falou (se me abalou julgai-o!) A graciosa visão, que se desfez Pouco a pouco em suavíssimo desmaio.
Donzel eu era já, quando outra vez As mesmas falas ela, de improviso, Me repete com a mesma candidez.
Todo cheio de lágrimas e riso, Num enlevo quedei, numa ansiedade, Mais que da terra já, do paraíso.
E à celeste, benéfica deidade Jurei suas razões maravilhosas Puramente cumprir e de vontade.
Jurei que nunca minhas mãos culposas Mulher manceba haviam de tocar, Feita que fora de luar e rosas.
Jurei, unido em Cristo à luz do altar, Por batalha de morte a meus desejos E meus vícios da carne assossegar.
Anos do mundo, breves ou sobejos, Fadigações da vida tão mesquinha, Com seus ais, com seu pranto, com seus beijos,
Tudo votei sem pena e bem asinha À cruz do Redentor e à cruz da espada, Ao meu Deus verdadeiro e à pátria minha,
Jurando guardar sempre, e bem guardada, Uma alma pura em natureza pura, Qual em âmbula d'ouro hóstia sagrada.
Ai, de mim! ai, de mim! faltei à jura! Ai, de mim! ai, de mim! por que uma peste Logo te não queimou, língua perjura?!
Ah, donosa visão, visão celeste, Bem devera de ter descortinado Naquelas altas falas que me deste,
Que eu, em vício d'amor sendo gerado, Remiria na carne aborrecida Pela grã penitência o grã pecado.
Madre senhora! ó madre estremecida! Antes ficaras tu noiva e donzela, E eu não abrisse o olhar à luz e à vida!
Ó padre carinhoso! ó madre bela! Vossa culpa caiu no vosso fruto, E, com a culpa amarga, o nojo dela!
Queixa não hei de vós; a mim imputo Lástima e dano, que me só provêm Deste bichoso coração corrupto.
Por vós criado fui, como ninguém; Vós me guiastes com suave jeito, Desde menino a alma para o bem.
Remidor dum pecado eu fora eleito; Assim mo disse a cândida visão, E mo escreveu com lágrimas no peito.
Quando tu, padre meu, alto varão, Mulher me cometeste, logo ansioso Se me agastou, nublado, o coração.
E toda a noite o arcanjo luminoso Repetindo: Não deixes, filho meu, Glória celestial por triste gozo!
E a miséria da carne me venceu! Ó padres! perdoai, chorai comigo, Que o vosso algoz tirânico fui eu!
Eis aqui vosso algoz, vosso inimigo; Por mim no purgatório estais sofrendo, E eu sofro, além do meu, vosso castigo.
Oh, destino cruel! oh, caso horrendo! A livrar-vos da falta me hei proposto, E sou o Judas negro que vos vendo!
Nem para aqui meu transe e meu desgosto. Como de olhar-me, ó sol deslumbrador, Não se te muda em noite a cor do rosto?
Como não gelas, dize, de pavor, Vendo que em fraco peito miserável Cabe tromenta assim de nojo e dor?!
Ó terra triste! ó céu inexorável! Que ventre de mulher pariu um dia Desaventura a esta assemelhável?!
Nobres guerras armei, como cumpria, D'ânimo afoito a rudes castelhanos, Desbaratando-os Deus por minha via.
Contra seu vão furor, contra seus danos, Batalhei desde a alva alegradora, Ao derribado ocaso de meus anos.
Sangue de irmãos verti... Vertido fora Novamente mil vezes, sem piedade, Que alma não é de irmão alma traidora.
Pátria minha gostosa, quem não há de, Em risonho sabor, vida e fortuna Dar por teu livramento e majestade!
Como a de fogo altíssima coluna Vai do povo de Deus na dianteira, A fim que se não perca ou se desuna,
Tal na frente das hostes, sobranceira, Contra duro inimigo acovardado, Tremeu sempre no ar minha bandeira.
É que nela Jesus ia pregado, Jesus, rei das estrelas, rei do mundo, Meu capitão formoso e sublimado.
Ordenara, porém, o céu profundo, Que em tal cometimento era mister Carne sem nódoa e coração jucundo.
E estas mãos (ai do feito em que as puser!) Tocado haviam já, tornadas lama, Com vil desejo, em corpo de mulher.
Fosse a Virgem celeste a minha dama, Se, como Galaaz, herói invito, Alcançar me propunha honrada fama.
Deus castigou-me o coração maldito: Pois que sobre ele ainda vem pesando O carrego mortal do meu delito.
Ó cidadela da pureza, quando Um vício te faz brecha, sem tardança, Prestes os mais acodem galopando.
Em minha carne, um dia honesta e mansa, Por onde entrou luxúria malfazeja, Entrou ira e soberba, entrou vingança.
Inda me sangue o peito lagrimeja da boa e má tenção, que, desvairadas, Armaram nele horrífica peleja.
Oh, pelejas da alma encarniçadas! São as outras uns jogos inocentes, Com o furor das tuas comparadas.
Anjos d'asas de luz resplandecentes, Séculos dia e noite a batalhar Com demônios, com tigres, com serpentes!
Ah, nem ouso de espanto relembrar Essa guerra feroz, que já não arde, Entre meu crime duro e meu pesar...
Tão animoso, nela fui covarde; Tão vencedor, a miúdo fui vencido, E a vitória, se a hei, me chegou tarde.
Uma noite em que mais me vi perdido, Com afincada raiva e crua sanha Dos demônios ardentes combatido.
A visão me ressurge em forma estranha, E em tão grande e mortal melancolia, Que nunca em mim a houve assim tamanha.
Um longo véu de dó ela vestia, Numa tal solidade e desconforto, Que a disséreis a Virgem na Agonia.
Meiga, sem me falar, o olhar absorto
Pousou em mim então, como se fosse Uma madre encarando um filho morto.
No seio me verteu, divina e doce, Lágrima d'ouro, e, com suspiro etéreo, Silenciosa esmaiando, evaporou-se.
Ó lágrima de dor, por que mistério Subitamente ao ânimo torvado Me deste paz, clareza e refrigério?...
Todo eu me senti purificado: Num ditoso sofrer o meu tormento, Numa pena bem-vinda o meu cuidado...
Tal o mísero rei, que vai sangrento De perdida batalha, alfim se lança Em ditoso e profundo acostamento.
Descobrira que a dor é irmã da esperança; E que ao alto perdão, no azul divino, Só a humildade, a rastros, se abalança.
Já liberto de espírito maligno, Com as veras palavras de Jesus Assentei de acordar o meu destino.
De mundanários bens fácil dispus; Que só virtude é ouro, e a mor grandeza Da terra são três pregos numa cruz.
Dentro de mim, numa fogueira acesa, Queimei glória e valor: não ficou nada Mais que melancolia e que tristeza.
Parti a lança; pendurei a espada;
Com bordão de pastor ou de ceguinho, Bem andamos de noite esta jornada.
Fama grande do mundo tão mesquinho, Dando às trombetas com ardor, não voa, Onde voa, cantando, um passarinho.
E onde há, ó meu Jesus, se a dor te coroa, Se é teu vestido sangue e o vinho fel, Pena digna de nós, que bem nos doa?!
Sem escudo, sem cota, sem laudel, Minha triste nudez arrecolhida Numa samarra triste de burel,
Determinei findar miséria e vida Lá em partes inóspitas, distantes, Entre gente comum desconhecida.
Estes olhos, que arderam relumbrantes, Verteriam de dor sangue coalhado, Qual os olhos de Jó verteram dantes.
Estes pés, que no vício hão caminhado, Manariam gangrena, já desfeitos, Como os pés de Jesus Crucificado.
Estes braços, altivos de seus feitos, De lugar em lugar, côdeas de pão Buscariam, rendidos e sujeitos.
E esta abatida alma de cristão, No cárcere da carne prisioneira, À míngua mor, à mor tribulação,
Gostosa sorriria e prazenteira,
Qual o bom lavrador, em velha idade, Sorri festivalmente ao pão na eira.
E, já em Deus o espírito e a vontade, Me acolheria às solidões dum ermo, Na derradeira angústia e pouquidade.
Lá houvera afinal benigno termo, Se, em tão grande, humildosa desventura, Prouvera a meu Jesus de conceder-mo.
Del-Rei me veio o embargo; e na clausura De a que, chorando estrelas, nos conforta, Em silêncio, escondi minha amargura.
Vida do mundo, junto dessa porta, Com o rouco fragor que tudo abala, Aos pés, em sombra vã, me caiu morta.
Dir-se-ia que o mar perdera a fala, E a terra se volvera em nuvenzinha, Bastando um ai de dor a evaporá-la.
Já diversa era ali a pátria minha; Que o trono do meu rei era uma cruz, E o chão, banhado em sangue, o da rainha.
Ó Rainha da Angústia! ó Rei Jesus! Venha a nós esse império onde reinais, Todo amor, todo esperança e todo luz!
Venham a nosso peito os vossos ais! A nossas mãos, ó Cristo, os vossos cravos! Maria, à nossa alma os teus punhais!
Venham a nós as chagas, que são favos!
Venham tua agonia e teu madeiro, A nós, ó Rei do Céu, a teus escravos!
Dias de solidade e de mosteiro Eu os vivi, na temerosa esperança Da alva do meu dia derradeiro.
Esta dor, que abrandou, que se fez mansa, Ali chorou aos ais, como perdida Num deserto, de noite, uma criança.
E oh, alívio da alma arrependida! Quanto mais afincado era o tormento, Mais nos ombros ligeira a cruz da vida!
Como no ar o vento sobre o vento, Como no mar a vaga sobre a vaga, Só na dor tem a dor sossegamento.
E com a folha nua duma adaga Todo eu me prazia em revolvê-la Dentro do coração a hedionda chaga!
Qual as tuas, Jesus, quisera eu vê-la, De purpurina abrir-se numa rosa, De inflamada acender-se numa estrela.
Toda imunda, porém, toda verdosa, Só matéria escorria peçonhenta, Só gangrena letal, cadaverosa.
E eu a escarnava com a mão cruenta, E eu lhe metia, para não sarar, Carvões a arder na boca pestilenta.
Mas a Virgem tristíssima, a chorar,
Lhe derramava, bálsamo divino, O lumioso perdão daquele olhar.
Era assim, irmãmente cristalino, O da visão angélica e suave, Que amistosa me foi desde menino.
E, a tão cândida luz, meu pesar grave Ia alvorando, como rocha bruta, Que pouco a pouco se fizesse em ave.
Já da úlcera ardente, quase enxuta, Manava um soro apenas, filho ainda, De podridão tão negra e tão corrupta.
Hora do livramento, hora bem-vinda, Uma noite, em um sonho d'esplendor, Ma predizeu, chorando, a Virgem linda.
E, abraçando e beijando o Redentor, Sem angústia enfadosa, sem quexume, Dei a alma nas mãos do Criador.
Esbulhada de vício e de azedume, Às regiões celestes foi voando, Como pálida luz solta do lume.
Numa névoa, a boiar, quedou sonhando: Sonho de dor feliz, dor sem memória, Névoa d’antemanhã que vem raiando.
Não era ainda ali perpétua glória; Mas falecera já da vida ausente A remembrança amarga e merencória.
Sono d'alma levíssimo, inocente,
Em músicas de estrelas embalado, Quem o dormir pudera eternamente!
E um véu de lua cheia, engrinaldado, A Virgem desdobrou, em ar divino, Sobre a encantada paz do meu cuidado.
Era uma graça, um bem que eu não defino... Jucundo enlevo... candidez airosa... Num presepe, a sonhar, feito menino...
E uma luzinha ao longe, misteriosa, Cantando-me as canções que me cantava Minha madre no berço, em Frol da Rosa...
Oh, descuidado alívio!... não cuidava Que das culpas do mundo temeroso Esta essência revel jazia escrava.
Deus a espertou do sono deleitoso, E, por mais a punir, inda um momento A banhou, ao de leve, em claro gozo.
Só as estrelas, só o firmamento Recontar poderiam, se quisessem, Meu desvairo, meu nojo e meu tormento!
Convinháveis palavras me falecem, As que as bocas dos homens deitam fora Tribulações daquelas não conhecem.
Lá d'alta estância donde venho agora, Lá donde o Eterno me elegeu pousada, Duzentos anos grandes, hora a hora,
Vi eu, alma em tormento, alma calada, Minha pátria, a meu sangue redimida, Por meu sangue afinal desbaratada!
Por sangue do meu sangue foi traída; Eu que alentos lhe dei, lhe dei nobreza Ao cabo lhe arranquei nobreza e vida!
Os filhos dos meus filhos, oh, tristeza! A danaram com raiva tão medonha, Que nem lobos a hão contra uma presa.
Descendentes da míngua e da vergonha, Réprobos eram, pois é justa a lei Que do cancro mau cria a peçonha.
Faze-os a sina herdeiros do meu rei, Por que um a um no trono dessem conta Deste perdido reino, que eu livrei.
E eu lá daquela altura que amedronta, Sem poder abalar, correr asinha, Vingar com mão sanhosa a dura afronta!
Em vão, oh, dor cruel! oh, dor mesquinha! Alevantava súplicas piedosas, À dos anjos tristíssima Rainha!
Ela vertia lágrimas formosas... E nasciam estrelas como flores, Canteiros de boninas e de rosas...
Porém, Deus era surdo a meus clamores! Mais pesavam meus crimes na balança, Que os teus olhos de luz, ó Mãe das Dores!
Tal um peito rasgado duma lança, Que em torvação eterna agonizara, Sem alívio, sem morte e sem esperança!
Ó filha! ó anjo pulcro! ó alva clara! Antes em leda e tenra meninice Uma víbora má te envenenara!
Antes boca de monstro te engolisse, E daquele erro o fruto miserando Teu ventre criador nunca o parisse!
Vozes tais eu gemia, senão quando Ouço como o ruir duma montanha, Como um trovão de súbito estourando!
Deus arrasara a nobre flor da Espanha! Nem a Virgem do Carmo em seu mosteiro O defendeu de cólera tamanha!
Virgem do Carmo! vê-la num braseiro, Misturada com pedras e destroços, Vê-la eu! seu algoz, e seu coveiro!!...
A igreja, que por mor dos olhos vossos Alevantei, ó Virgem da Piedade, Minha infâmia a ruiu contra os meus ossos!
Grito d'alma naquela imensidade Tão agudo expedi subitamente, Que fez branca de dor a Eternidade!
Assim horrenda, assim direitamente, Em quejanda e cruel desaventura Não foi posto no orbe um ser vivente!
Já dois séculos idos de amargura, Acreditei que enfim o Criador Houvera dó da triste criatura:
Do meu sangue de lástima e de horror Cavaleiroso príncipe foi nado, Qual nasce duma campa ebúrnea flor.
Ah, o nobre donzel, d'olhar fadado, A imagem de mim mesmo era talvez, Quando isento do vício e do pecado.
Risonha aurora em noite se desfez... Breve expirou, qual expiraram breve Dentro em mim a virtude e a candidez.
Não perdoa o Eterno a quem lhe deve: De culpa grande a ofensa lhe devia, E o castigo aturado, o julgou leve.
Minha dor empenosa acabaria Com teu acabamento e sorte infanda, Último rei de infanda dinastia.
Criatura nojenta e miseranda! Ó vítima final! já na procela Descubro o raio, a arder, que Deus te manda!
E a pátria! o meu amor! a pátria bela!... Em que míngua eu a vejo!... Quem a abraça, Quem vai lidar até morrer por ela?!...
Já o mundo a meus olhos se adelgaça!... Montes, fraguedos, tudo se evapora... São nuvens... sonho... sombra vã que passa...
Quase liberto já!... não tarda a hora... Sorri-me a Virgem!... como vem brilhante!... Deus! quanta luz!... que mar de luz! que aurora!... (Queda enlevado, extático, sobre-humano. Irradia ouro. Descortina, súbito, numa panóplia, a velha espada de Aljubarrota. O gládio heroico entre cutelos de verdugos! Como eximi-lo à afronta, se já mãos de eleito não devem tocar em ferros homicidas! Embora! Arranca-o, beija-o, ergue-o na destra, e, da varanda, olhando a noite, em voz soturna de trovão) Cavaleirosa espada relumbrante! Se nesse lodo amargo um braço existe De profeta e de herói, que te alevante!
Inda bem que na lâmina persiste, Em crua remembrança e galardão, Do sangue fraternal a nódoa triste.
Descobre o gládio a quem o houver na mão, Que ante a justiça reta e verdadeira, Não há padre, nem madre, nem irmão!
Porém, se a pátria, já na derradeira Angústia e míngua onde a lançou meu dano, Terra d'escravos é, terra estrangeira,
Rútila espada, que brandi ufano! Antes um velho lavrador mendigo Te erga a custo do chão, piedoso e humano!
Volte à bigorna o duro aço antigo; E acabes, afinal, relha de arado, Pelos campos de Deus, a lavrar trigo. (Arrojando a espada ao abismo da noite) Deus te acompanhe! Seja Deus louvado! (Desaparece. O rei fica no chão, imóvel e sem acordo)
CENA XXII O espectro de Nuno Álvares atravessa, resplandecendo, a escuridão noturna. Enxerga a distância, o vulto fantástico do doido. Para, surpreendido. Contemplam-se.
O ESPECTRO DE NUNO ÁLVARES (melancólico, fitando o doido) Se esta alma, há três séculos gemendo, Em carne humana andasse, e, dia a dia, A perdição da pátria fora vendo,
No semblante de louca amostraria Aquela dor soturna e tenebrosa, Aquele olhar de pasmo e de agonia!...
O DOIDO (absorto) Oh, que figura estranha e luminosa!... Que aparição aquela!... E eu já a vi... eu já a vi... lembro-me dela... Mas onde foi?... Cabeça tonta!... Onde seria?!... Ah, ah, já me recordo!... quando eu vivia, Tive assim um parente... um irmão... Um irmão? Eu nunca tive irmão!... Oh, que loucura! oh, que loucura! Mas eu conheço este fantasma... esta figura... Aquele ar singular de guerreiro e de monge... Eu conheço-o... Mas onde foi?... quando é que foi?... lá muito ao longe... Muito ao longe... Ora espera!... Já sei! Não era irmão, não era!... Fui eu próprio!... Fui eu assim!... Fui eu! fui eu! fui eu! É tal e qual... é exato, O meu retrato!... Fui eu!... Ah, fui eu... um outro eu... que andou no mundo e já morreu!...
CENA XXIII Corre, de braços abertos, para o espectro, que subitamente se evapora. Relâmpago abrasador. Trovão medonho. Chovem os raios no castelo. O incêndio, num minuto, veste-o de lavaredas fabulosas. Estrondos de explosões, derrocamentos de muralhas, gritos de angústia, alaridos de pânico.
O DOIDO (triunfante, num regozijo de criança, vendo as lavaredas a brilhar)
Olha o palácio a deitar chamas dos telhados!... A arder!... a arder!... Lá arde o rei, o trono, a corte, os cães... Ah, cães danados, Ides morrer queimados! Tudo a arder!... tudo a arder!... Que lavaredas! Que esplendor! Ai, que alegria! Parece dia!... Vão os galos cantar E trinar, de surpresa, a cotovia!... Rolos de fumo em sangue pelo ar... Desabamentos... vigamentos a estourar... Oh, que fogueira!... oh, que fogueira!... Ai, que alegria! Que chamas d'ouro relumbrantes!... Andem vê-las... Olha a subirem para o céu milhões de estrelas. Tantas estrelas, tantas, tantas, Que o castelo abrasado Vai-nos deixar o céu azul todo estrelado! Ó lavaredas d'ouro! ó lavaredas santas! Subi! subi! subi!... dai luz e dai calor!... Vós que não tendes fogo em vossas casas, (Que lindas brasas! que lindas brasas!) Vinde assentar-vos e aquecer-vos ao redor! Oh, surdi de tropel, em alcatéias, Miseráveis, famintos, vagabundos! Surdi das tocas negras das aldeias, Dos matagais profundos, Das pocilgas, dos antros, das cadeias, E em turbamulta, em debandada, aos milhões, aos milhões, Vinde aquecer as mãos neste braseiro, Vinde aquecer as mãos, vinde aquecer os tristes corações!... Já vai florir nas sebes o espinheiro, Já vão florir nas bocas virgens as canções!... Dobram os sinos... dobram os sinos... Deixa dobrar! Foi Deus que deitou fogo àquilo tudo... Quem no há de apagar?!... Repica os sinos, meu sineiro campanudo,
106
Que à volta da fogueira as moças todas vão bailar!... E eu vou ter, que prazer! Mal sabeis... mal sabeis o que eu vou ter!... A minha alma! a minha alma!... nova... nova, Como um sol de aleluia a refulgir! Ela estava ali presa numa cova... Ardeu o rei, ardem os cães... e vai fugir!
(O incêndio devorou o palácio. Ardeu tudo: mármore e madeira, rei e cortesãos, ouros e brocados, alfaias e baixelas. Salvaram-se os cães; nada mais. De entre os escombros, fumegando, ergue-se religiosamente, em ascensão eucarística, um vulto angélico de mulher. O corpo é de luar de opala, a túnica de luar de neve, e os olhos, fundos e dolentes, de luar de lágrimas. Peito manando sangue, olhos chorando estrelas, caminha suspensa, direita ao doido, num sonambulismo vago e melancólico. Pousa em terra, com a graça aérea dum arcanjo. É a alma do doido. Trezentos anos sem se verem! Contemplam-se. Como estão mudados!...)
O DOIDO (em frente da alma, já recuperando a lucidez) Ó alma vagabunda, alma exilada, Eis teu corpo infeliz, tua triste morada: Vê, que abandono e que pobreza! Ninguém te espera! nem candil na escada, Nem banquete na mesa! Vens transida de frio a tiritar?... Não há lume no lar! Vens morta de miséria e de aflição?... Não há vinho, nem pão! Vens fatigada repousar?... Porém, Não há leito também! Tua casa deixaste, Teu albergue natal desamparaste, Numa noite d'horror... E os ventos e as procelas Desmantelaram portas e janelas, Desmoronaram tetos com furor...
Restam negras paredes lastimosas Do teu ninho d'amor!... Há cardos na varanda em vez de rosas, Luto e morte nas salas pestilentes... Na alcova onde dormias, (Oh, mal dirias! mal dirias!) Hoje dormem as corujas e as serpentes!... E tu, ó alma triste, alma exilada, Branca, da alvura mesta dos sudários, De que prisões, de que galés, de que calvários, Vens a rastros assim crucificada! Quem te cobriu de lágrimas e sangue? Quem trespassou teu coração exangue De tanta dor e tanta punhalada?! Regressas ao teu lar, alma divina, Para morrer aqui; E no teu lar contemplas uma ruína, E ele uma sombra em ti!... Entra no lar... entra no túmulo... descansa, Alma pobre, varada de amarguras, Alma sem fé e sem esperança! Entra no lar abandonado... entra às escuras... Deita-te a um canto sonolentamente, E extinta e muda, vulto vago, informe, Nunca mais abras teu olhar silente, Dorme! repousa eternamente... dorme!
A alma embebe-se-lhe no corpo.
Alma a expirar, clarão sombrio, Por que vieste Iluminar um túmulo vazio?!... Por que vieste Ressuscitar de novo, inda um momento, A poeira do meu nada?!... Antes o vento
A sacudisse inânime e delida Na eterna paz do eterno esquecimento! Memória! espelho fúnebre da vida, Porque me vens de súbito trazer A apagada, a esquecida Imagem tormentosa do meu ser! Que despertar medonho Da caótica noite do meu sonho!... Antes o sonho louco, o sonho vão! Cavaleiro magnânimo de outrora, Contempla o teu retrato... olha-o agora... Nem a ti próprio te conheces, não! E és tu, és tu, ó cavaleiro antigo, Este pálido e trôpego mendigo, Este mendigo ensanguentado e nu!... Nem semelhança leve achas contigo? Repara bem... repara bem... és tu!... (Num ímpeto de orgulho e de vanglória) E astros do céu, povos da terra, ondas dos mares, Viram passar, como uma águia ovante, O meu pendão quimérico nos ares! Retumbaram meus feitos de gigante Pelo universo, em ecos seculares! Cavaleiro e argonauta vagabundo, Gravaram sobre terra e mar profundo Mil roteiros de luz os passos meus, Como se houvera circundado o mundo, Listrando-o a fogo, o Espírito de Deus! Minha abrasada crença visionária, Medindo o globo inteiro, achou-o estreito... E a alma da humanidade, imensa e vária, Numa maré de assombros, tumultuária, Bateu um dia junta no meu peito! Vinham bandos de frotas portentosas Páreas de reis trazer-me alegremente: Maravilhas estranhas, caprichosas,
De longínquas cidades fabulosas, Berços d'ouro do sol resplandecente!... Nas mil torres, mais altas do que a Fama, Do meu empório vasto olhando o mar, Via-se o globo e a cruz como auriflama, E sobre globo e cruz, d'asas de chama, Minha epopeia homérica a cantar!... Ah, do sono da morte enregelado Por que havias de, ó alma, despertar?!... Que é da grandeza heroica do passado, Que é das torres d’outrora olhando o mar?!... Blocos no chão, vestidos d'heras, Ameias, gárgulas, esferas, Poeiras de sonhos, de quimeras, Luto, nudez, desolação, Eis os restos de tantos extermínios, De tanta dor e tanta maldição!... Já nem cabe sequer em meus domínios À magra sombra vã do meu bordão! Régios palácios, fortalezas, Mosteiros, campas, catedrais, Orgulhosos padrões de mil empresas, Conspurcados de lama e de impurezas, Entre montes de entulho e silveirais! Meus impérios distantes divididos, Minha terra natal inculta e só!... Loucos de dor, em torvos alaridos, Correm bandos de aldeões espavoridos, Miseráveis tropéis de luta e dó... Por mim passam atônitos, julgando Ver um monstro maldito, Um espectro soturno e formidando... Da escuridão do nada ressuscito... Abro os olhos na treva... estendo as mãos... E de mim fogem com horror, clamando, Meus parentes, meus filhos, meus irmãos...
Deus, onde estás?!... Deus! a mentira eterna!... Algum lobo voraz, Mais piedoso que o céu que nos governa, Pode emprestar-me um antro, uma caverna, Onde se durma e se agonize em paz?!... (Ao cabo dum longo e meditativo silêncio) Oh justiça do Espírito divino, Pensando bem, bem clara te revelas Na trágica lição do meu destino! Minhas glórias passadas!... É por elas, Que eu hoje estou sofrendo e me crimino! Minhas glórias!... infâmias e vergonhas De ladrão, de pirata e de assassino! Que bárbaras, que atrozes, que medonhas, A escorrer sangue negro e pestilento, As vejo em torno a mim neste momento, Essas glórias nefandas, que eu supus D'ouro e de luz! A epopeia gigante! Empresas imortais! feitos sublimes! Grandeza louca dum instante... Miséria eterna... meus eternos crimes! Novos mundos eu vi, novos espaços, Não para mais saber, mais adorar: A cobiça feroz guiou meus passos, O orgulho vingador moveu meus braços E iluminou a raiva o meu olhar! Não te lavava, não, sangue homicida, Nem em mil milhões d'anos a chorar!... Cruz do Gólgota em ferro traduzida, Minha espada de herói, ó cruz de morte, Cruz a que Deus baixou por nos dar a vida; Vidas ceifando, desumana e forte,
Ergueste impérios, subjugando o Oriente, Mas Deus soprou... ei-los em nada... E te cravou a ti, vermelha espada, Nesta alma de lobo eternamente! Ó espada de dor, abre-me o peito! Rasga de lado a lado o coração! Rasga-o, meu Deus, e torna-mo perfeito, Que eu te bendigo e louvo e me sujeito, Sem uma queixa, aos golpes da tua mão! Seja feita, Senhor, tua vontade, Venha o remorso igual à iniquidade, Deus de justiça e luz, Deus de perdão! Nunca nascido houvera o resplendor Do dia, em que no abeto milenário Pus o gume do aço com furor!
Antes aparelhara o meu calvário, Antes a minha tumba silenciosa Com o tronco do roble funerário!
Antes mil vezes, do que a aventurosa Barca ligeira, que levou seu guia Dos desastres à praia fabulosa!
E, a meus golpes cruéis, eu bem ouvia Uma alma no roble que chorava, Um coração lá dentro que gemia!
Um coração de avô que perdoava, Só com ais de amargura respondendo A cada novo golpe que eu lhe dava.
Eu os traduzo hoje, eu os entendo, Os merencórios ais vaticinantes Das lágrimas de fel que estou bebendo!
À sombra de teus ramos verdejantes, Ó árvore formosa, bem quisera Adormecer eu inda como dantes!...
Não abatessem minhas mãos de fera O teu corpo sagrado, roble augusto, Patriarca da lei vestido de hera!
Fosse eu ainda o camponês adusto, Lavrador matinal, risonho e grave, D'alma de pomba e coração de justo!
Sentisse eu inda a música suave Da candura feliz no peito agreste, Qual em rórida brenha um trino de ave!
Em vez do mundo (fome, guerra e peste!) Conquistasse, por única vitória, Os tesouros sem fim do amor celeste.
Nunca de feitos meus cantasse a História; Ignorasse o meu nome a voz da Fama E a minha sombra humilde a luz da Glória.
Vivesse obscuro e triste, erva da lama; Nas alturas, porém, fosse contado Entre os que Deus aceita, os que Deus ama.
No mundo, bicho ignoto e desprezado; Mas, nos reinos da luz adamantina, Um cavaleiro grande e sublimado. (Cai-lhe o livro das mãos. Erguendo-o e beijando-o com fervor) E contudo, alma infame e libertina, Em teu horror, esquálido e sangrento, Uma luz existiu, que era divina!
Uma luz existiu, que num momento Fez o dia mais claro e mais jucundo, Pôs mais cerca da terra o firmamento!
Ó lira d'ouro que abalaste o mundo! Sonho d'astros!... ó fúlgida epopeia! Canta, dá vida nova ao moribundo!
Da cólera do Eterno a maré cheia, Naus, barbacãs, palácios, de imprevisto Levou tudo nas ondas, como areia...
Levou tudo nas ondas... ficou isto! Ficou na mão exangue a lira d'ouro, E é por ela existir que eu inda existo!...
Lira de Orfeu! meu único tesouro! Bem como a voz do mar enche uma gruta, Encheu o azul teu canto imorredouro!
Pudesse eu, d'alma livre e resoluta, Olhos no fogo da manhã nascente, Erguer ainda os braços para a luta!
Não, como outrora, para a luta ardente Da riqueza e grandeza, que é vaidade... Da fortuna, que é sombra que nos mente...
Seja a hora do prélio a Eternidade! E o globo estreito a arena, onde não cansa A batalha do Amor e da Verdade!
Cavaleiro de Deus, ergue-te e avança! Põe na bigorna os cravos de Jesus; Bate-os cantando... É o ferro da tua lança!
Faz a hástia da lança duma cruz; Vai, cavaleiro, de viseira erguida, Dá lançadas magnânimas de luz!...
E hão de estrelas sangrar de cada ferida, Que em rosários, ardendo, chorarão Uma a uma no Gólgota da Vida.
Ah, sonho de esplendor, que sonho em vão! Põe os olhos em ti, alma de hiena, Em teu rebaixamento e escuridão!...
Como nascer em pútrida gangrena, Sob os olhos de Deus, a flor de encanto, Vaso de ideal, a mística açucena!
Como? chorando; derretendo em pranto As máculas do crime; e o criminoso, Vestido de esplendor, ficará santo.
A Dor, a eterna Dor, eis o meu gozo. O pão do meu banquete, cinza escura, E o meu vinho jovial, fel amargoso.
É a Dor quem liberta a criatura: Ou em miséria humana ande encarnada, Ou em tigre feroz ou rocha dura.
Oh, abrasa-me a alma envenenada, Faz em carvão meu coração perverso, Dor temerosa, Dor idolatrada,
Ó Dor, filha de Deus, mãe do universo!
(Longo silêncio. Transe-lhe a alma, de repente, um frêmito de angústia. Adivinha no escuro, marchando, a Fatalidade inexorável. Suor de Agonia. Com um ai cruciante)
A hora grande, a hora imensa, Já por um fio está suspensa... Não tarda muito que ela dê!... Carne medrosa, por que tremes?... Ó alma ansiosa, por que gemes?... Por quê?!... Arde na Dor, carne maldita! Revive em Dor, alma infinita! Na Dor bendita espera e crê!...
(Marcha de tropel, na escuridão, um bando de corsários, gigantes espadaúdos e membrudos, rosto sanguíneo, cabelos de ouro fulgurando. Entoam, epilépticos de álcool, uma canção infrene e vagabunda. Relampeiam as armas, à claridade vermelha dos archotes. O andar é deliberado e resoluto, como o de quem trilha, às escuras, uma vereda já sabida. É que na dianteira, a escaminhá-los, Iago e Judas trotam sombrios e ofegantes. Um dos marinheiros, brincando, meteu o Veneno no bolso. Os cães, pelo instinto, levam a horda temerosa em direção ao doido. Apenas o descobrem, estacam de súbito, ladrando raivosos e covardes, como a dizer: — Ei-lo! Aí o tendes. — O velho herói, pálido de morte, fita-os soberanamente desdenhoso. Rodeiam-no, tumultuando e clamorando. Brilham adagas, lâminas frias de cutelos. Deitam-lhe algemas, dão-lhe bofetões, insultam-no, mascarram-no de lodo, cospem-lhe na cara. E a face do herói sobre-humanamente resplandece, como zurzida por estrelas. Em meio de chufas e labéus o arrastam ao alto da montanha, onde a cruz negra e sanguinolenta lhe estende os braços para a Dor. Com vilipêndio o desnudam, por escárnio lhe cingem uma tanga de cafre, e, a marteladas truculentas, desumanos o pregam no madeiro bárbaro. Ao topo da cruz, desenhada a sangue, esta ironia: — Portugal, rei do Oriente! — Expele o seio do mártir um ai agudo, lança angustiosa de varar infinitos. E a Dor o exalta, a Dor o diviniza: É de alabastro o corpo macerado, as longas barbas ondeantes de luar choroso, e os olhos fundos e proféticos, duas cavernas de noite, com estrelas. À volta, os verdugos tripudiam e cantam. Bocas aguardentadas rugem blasfêmias e sarcasmos. Atiram-lhe pedras, que se convertem em rosas. Atiram-lhe esterco, e chegam-lhe lírios e açucenas. Os cães, furibundos, pulam em vão, desaustinados, a ver se o mordem; e, insaciáveis, abocanham o toro do madeiro, lambendo avidamente o sangue fresco a gotejar. Depois, escumantes de raiva, ladram à cruz, hienas possessas e diabólicas. Varreu a tormenta. A noite desmaia. Já os aventureiros, levando os cães, embarcam na galera. Os olhos do moribundo pairam em volta, suplicantes. Cemitério deserto. Ninguém. Campos revoltos, carcavões tenebrosos, ossadas de penedias, um castelo derruído fumegando, esqueletos de gente em esqueletos de árvores, terra de pavor, terra de morte, onde a única vida, bruxoleante, é uma agonia numa cruz. Quase a expirar, soltando um gemido)
Pranto, que manas dos meus olhos, Bendito és! Bendito és, porque és o mar de pranto Que os meus crimes verteram pelo mundo... Sangue a correr das minhas feridas, Bendito és! Bendito és, porque és o mar de sangue Do meu orgulho e minha iniquidade...
(Súbito, numa visão interior, descobre em roda dele as nações armadas, cerco de lobos à volta duma presa. Já no estertor, agonizando) Deus! abandonas-me!...
(Expira. Clareia, roxa, a manhã de novembro, triste lençol de misericórdia, a que limpassem forcas ou calvários. Um aldeão senil e vagabundo, caminha ao longe, tropegamente, como um fantasma, em direção à cruz. Roto, cheio de lama e de sangue, no bordão aos ombros uma taleiga, e, escondida no peito, aninhada nos braços, uma criancinha forte e luminosa. Velho e doente, perdeu-se de noite na debandada trágica, não alcançou o navio, já o não enxerga... onde irá ele!... onde irá ele!... Por montes e mares circundeia os olhos, enublados de horror, desorbitados de loucura... Ninguém! ninguém! ninguém! Campos desertos, ondas sem uma vela, e nos bosques, mirrados, sem uma folha, carcaças pútridas... ninguém!... Dum povo exilado ficara ele só, cadáver ambulante, espectro bisonho, a chorar num ermo, com o seu netinho nos braços. Aproximando-se da cruz, reconhece o doido, o estranho doido inofensivo, que a horas mortas vagueava, ululando, por cerros e quebradas, e a quem ele tantas vezes, benignamente, dera agasalho e dera pão. Quem o crucificou?!... Por que seria?!... Mete medo e respeito... Que estatura de homem!... que gigante!... Morto, semelha um Deus!... E, fronte descoberta, — Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres... — E os olhos da criança devoram a cruz, estrelas inocentes, cheias de angústia e cheias de alma... Há naquele olhar uma inconsciência misteriosa, que adivinha... Luz enigmática, vem de longe, do fundo do passado, morrendo ao longe, em sonho, nas obscuridades do porvir... Esse velho fantasma, com esse menino ao colo, lembra a derradeira árvore dum bosque, árvore nua e carcomida, com uma florinha última no tronco. Flor de morte!... flor de esperança!... Nasceu dum cadáver, e dela se hão de gerar, talvez, os rumorosos bosques de amanhã!... O aldeão, assombrado, meio louco, procura o castelo do rei... evaporou-se... já o não avista. Em frente, na montanha, só lavaredas e ruínas. Vai descendo, descendo, descendo, e lá ao fundo estaca de improviso, inclina-se, e vê no chão, abandonada, uma arma guerreira. É o montante de Nuno Álvares. Empolga-o a custo. Os braços da criancinha estendem-se com avidez, numa alegria doida... Nobre montante, qual o teu destino? Sulcarás, relha de arado, a gleba deserta desse camponês? Nas mãos dessa criança, um dia homem, brilharás acaso, espada de fogo e de justiça? Mistério... mistério... Invisivelmente, saudando a luz, as cotovias gorjeiam...)
RESUMO PATRIÓTICO
Um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de misérias, sem uma rebelião, um mostrar de dentes, a energia dum coice, pois que nem já com as orelhas é capaz de sacudir as moscas; um povo em catalepsia ambulante, não se lembrando nem donde vem, nem onde está, nem para onde vai; um povo, enfim, que eu adoro, porque sofre e é bom, e guarda ainda na noite da sua inconsciência como que um lampejo misterioso da alma nacional, — reflexo de astro em silêncio escuro de lagoa morta;
Um clero português, desmoralizado e materialista, liberal e ateu, cujo vaticano é o ministério do reino, e cujos bispos e abades não são mais que a tradução em eclesiástico do fura-vidas que governa o distrito ou do fura-urnas que administra o concelho; e, ao pé deste clero indígena, um clero jesuítico, estrangeiro ou estrangeirado, exército de sombras, minando, enredando, absorvendo, — pelo púlpito, pela escola, pela oficina, pelo asilo, pelo convento e pelo confessionário, —força superior, cosmopolita, invencível, adaptando-se com elasticidade inteligente a todos os meios e condições, desde a aldeola ínfima, onde berra pela boca epiléptica do fradalhão milagreiro, até à rica sociedade elegante da capital, onde o jesuitismo é um dandismo de sacristia, um beatério chique, Virgem do tom, Jesus de high-life, prédicas untuosas (monólogos ao divino por Coquelins de fralda) e em certos dias, na igreja da moda, a bonita missa encantadora, — luz discreta, flores de luxo, paramentos raros, cadeiras cômodas, latim primoroso, e hóstia glacée, com pistache, da melhor confeitaria de Paris;
Uma burguesia, cívica e politicamente corrupta até à medula, não discriminando já o bem do mal, sem palavra, sem vergonha, sem caráter, havendo homens que, honrados na vida íntima, descambam na vida pública em pantomineiros e sevandijas, capazes de toda a veniaga e toda a infâmia, da mentira à falsificação, da violência ao roubo, donde provêm que na política portuguesa sucedam, entre a indiferença geral, escândalos monstruosos, absolutamente inverossímeis no Limoeiro.
Um exército que importa em 6.000 contos, não valendo 60 réis, como elemento de defesa e garantia autonômica.
Um poder legislativo, esfregão de cozinha do executivo; este criado de quarto do moderador; e este, finalmente, tornado absoluto pela abdicação unânime do país, e exercido ao acaso da herança, pelo primeiro que sai dum ventre, — como da roda duma lotaria.
A Justiça ao arbítrio da Política, torcendo-lhe a vara a ponto de fazer dela um saca-rolhas.
Dois partidos monárquicos, sem ideias, sem planos, sem convicções, incapazes, na hora do desastre, de sacrificar à monarquia ou meia libra ou uma gota de sangue, vivendo ambos do mesmo utilitarismo céptico e pervertido, análogos nas palavras, idênticos nos atos, iguais um ao outro como duas metades do mesmo zero, e não se amalgamando e fundindo, apesar disso, pela razão que alguém deu no parlamento, — de não caberem todos duma vez na mesma sala de jantar;
Um partido Republicano, quase circunscrito a Lisboa, avolumando ou diminuindo segundo os erros da monarquia, hoje aparentemente forte e numeroso, amanhã exaurido e letárgico, —água de poça inerte, transbordando se há chuva, tumultuando se há vento, furiosa um instante, imóvel em seguida, e evaporada logo, em lhe batendo dois dias a fio o sol ardente; um partido composto sobretudo de pequenos burgueses da capital, adstritos ao sedentarismo crônico do metro e da balança, gente de balcão, não de barricada, com um estado maior pacífico e desconexo de velhos doutrinários, moços positivistas, românticos, jacobinos e declamadores, homens de boafé, alguns de valia mas nenhum a valer; um partido, enfim, de índole estreita, acanhadamente político-eleitoral, mais negativo que afirmativo, mais de demolição que de reconstrução, faltando-lhe um chefe de autoridade abrupta, uma dessas cabeças firmes e superiores, olhos para alumiar e boca para mandar, — um desses homens predestinados, que são em crises históricas o ponto de intercepção de milhões de almas e vontades, acumuladores elétricos da vitalidade duma raça, cérebros onímodos, compreendendo tudo, adivinhando tudo, — livro de cifras, livro de arte, livro de história, simultaneamente humanos e patriotas, do globo e da rua, do tempo e do minuto, forças supremas, forças invencíveis, que levam um povo de abalada, como quem leva ao colo uma criança;
Instrução miserável, marinha mercante nula, indústria infantil, agricultura rudimentar.
Um regime econômico baseado na inscrição e no Brasil, perda de gente e perda de capital, autofagia coletiva, organismo vivendo e morrendo do parasitismo de si próprio.
Liberdade absoluta, neutralizada por uma desigualdade revoltante, — o direito garantido virtualmente na lei, posto, de fato, à mercê dum compadrio de batoteiros, sendo vedado, ainda aos mais orgulhosos e mais fortes, abrir caminho nesta porcaria, sem recorrer à influência tirânica e degradante de qualquer dos bandos partidários.
Uma literatura iconoclasta, — meia dúzia de homens que, no verso e no romance, no panfleto e na história, haviam desmoronado a cambaleante cenografia azul e branca da burguesia de 52, opondo uma arte de sarcasmo, viril e humana, à frandulagem pelintra da literatura oficial, carimbada para a imortalidade do esquecimento com a cruz indelével da ordem mendicante de São Tiago.
Uma geração nova das escolas, entusiasta, irreverente, revolucionária, destinada, porém, como as anteriores, viva maré dum instante, a refluir anódina e apática ao charco das conveniências e dos interesses, dela restando apenas, isolados, meia dúzia de homens inflexos e direitos, indenes à podridão contagiosa pela vacina orgânica dum caráter moral excepcionalíssimo.
E se a isto juntarmos um pessimismo canceroso e corrosivo, minando as almas, cristalizado já em fórmulas banais e populares, — tão bons são uns como os outros, corja de pantomineiros, cambada de ladrões, tudo uma choldra, etc. etc., — teremos em sintético esboço a fisionomia da nacionalidade portuguesa no tempo da morte de D. Luís, cujo reinado de paz podre vem dia a dia supurando em gangrenamentos terciários.
O advento do materialismo burguês, inaugurado pela ironia céptica do Rodrigo, acabava pela galhofa cínica do Mariano. O riso de sibarita, levemente amargo, desfechava no riso canalha, de garotão de aljube. O patusco terminava em malandro.
A burguesia liberal, merceeiros-viscondes, parasitagem burocrática, bacharelice ao piano, advogalhada de São Bento, morgadinhas, judias, sinos, estradas, escariolas, estações, inaugurações, locomotivas (religião do Progresso, como eles diziam), todo esse mundo de vista baixa, moralmente ordinário e intelectualmente reles, ia agora liquidar numa infecta débâcle de casa de penhores, num AlcácerQuibir esfarrapado, de feira da ladra.
A nação, como o rei, ia cair de podre.
O conflito inglês e a revolução brasileira, dois cáusticos, puseram a nu, de improviso, toda a nossa debilidade orgânica, — miséria de corpo e miséria de alma.
Falecimento e falência. Ruínas. Montões de vergonhas, trapos de leis, cisco de gente, lama de impudor, carcaças de bancos, famintos emigrando, porcos digerindo, ladroagem, latrinagem, um salve-se quem puder de egoísmos e de barrigas, derrocada dum povo numa estrumeira de inscrições, —700 mil contos de calote público, a bela colheita do torrão português, regado a ouro, a libras, desde 52 até 90.
A crise não era simplesmente econômica, política ou financeira. Muito mais: nacional. Não havia apenas em jogo o trono do rei ou a fortuna da nação. Perigava a existência, a autonomia da pátria. Hora grande, momento único. A revolução impunha-se. Republicana?
Conforme. Se o monarca nos saísse um alto e nobre caráter, um grande espírito, juvenil e viva encarnação de ideal heroico, tanto melhor. A revolução estava feita. Imprimia-se, dum dia ao outro, no Diário do Governo.
Mas feita com quem, perguntarão, se tudo era lodo? Feita com o elemento moço do exército e da marinha, com quase todo o partido Republicano, com individualidades íntegras e notáveis dos partidos monárquicos, com a juventude das escolas, com um sem-número de indiferentes por nojo e por limpeza, com os duzentos homens de sério valor intelectual dispersos nas letras, nas ciências, no comércio e na indústria, e com o povo, o povo inteiro, que acordaria, Lázaro estremunhado, da sua campa de três séculos, à voz dum vidente, ao grito dum Nuno Álvares.
O português, apático e fatalista, ajusta-se pela maleabilidade da indolência a qualquer estado ou condição. Capaz de heroísmo, capaz de cobardia, touro ou burro, leão ou porco, segundo o governante. Ruge com Passos Manuel, grunhe com D. João VI. É de raça, é de natureza. Foi sempre o mesmo. A história pátria resumese quase numa série de biografias, num desfilar de personalidades, dominando épocas. Sobretudo depois de Alcácer. Povo messiânico, mas que não gera o Messias. Não o pariu ainda. Em vez de traduzir o ideal em carne, vai-o dissolvendo em lágrimas. Sonha a quimera, não a realiza.
O próprio Pombal é o Desejado? Não. Fez-se temer, não se fez amar. Cabeça de bronze, coração de pedra. Moralmente, ignóbil. Rancoroso, ferino, alheio à graça, indiferente à dor. Inteligência vigorosa, material e mecânica, sem voo e sem asas. Um brutamontes raciocinando claro. Falta-lhe o gênio, o dom de sentir, nobreza heroica, vida profunda, —humanidade, em suma. Máquina apenas. Não criou, produziu. A criação vem do amor, a gênese é divina. Criar é amar. Por isso a obra lhe foi a terra. Pulverizou-se. Só dura o que vive. Uma raiz esteia mais que um alicerce. Pombal em três dias, num deserto, quis formar um bosque. Como? Plantando traves. Adubou-as com mortos e regou-as a sangue. Apodreceram melhor.
Sei muito bem que o estadista não é o santo, que o grande político não é o mártir, mas sei também que toda a obra governativa, que não for uma obra de filosofia humana, resultará em geringonça anedótica, manequim inerte, sem olhar e sem fala.
A ductilidade, quase amorfa do caráter português, se torna duvidosas as energias coletivas, os espontâneos movimentos nacionais, facilita, no entanto, de maneira única, a ação de quem rege e quem governa. Cera branda, os dedos modelam-na à vontade. Um grande escultor, eis o que precisamos.
Há, além disso, bem no fundo deste povo um pecúlio enorme de inteligência e de resistência, de sobriedade e de bondade, tesouro precioso, oculto há séculos em mina entulhada. É ainda a sombra daquele povo que ergueu os Jerônimos, que escreveu os Lusíadas. Desenterremo-la, exumemo-la. Quem sabe, talvez revivesse!
Fora o rei um homem, que a nacionalidade moribunda se levantaria por encanto. E bem se me dava a mim da questão política, da forma de governo. Essencial, a forma do governante. Prefiro uma boa república a uma boa monarquia. A coroa de rei, de pais a filhos transmissível, como a coroa de Vênus; o trono hereditário como as escrófulas, — absurdo evidente. Mas se de absurdos anda cheio o mundo! Salta-se menos da majestade à excelentíssima que da excelentíssima ao tu. Impero eu mais no meu criado que o rei em mim. Há em cada burguês uma monarquia. Milhões de burgueses, milhões de absurdos. E eliminam-se acaso numa hora?
Não se tratava por enquanto de modalidades orgânicas de existência; tratava-se de existir. Problema social e problema político marchariam evolutivamente na órbita ininterrupta do seu destino. Quando um vapor alagado vai ao fundo, discute a marinhagem construções navais? Primeiro salvá-lo, o estaleiro depois. Quer dizer: a revolução urgente não era social, nem política, era moral. Nem havia a escolher entre monarquia e república, pois que, para escolher entre duas coisas, é necessário existirem, e a república, tanto custava a realizar, que ainda até hoje a não fizemos.
A segurança da pátria exigia inadiavelmente à frente do governo um homem de superior inteligência, de altivo caráter, de ânimo heroico e resoluto. Era-o D. Carlos? obedeceríamos a D. Carlos. Uma alma, uma vassoira e uma carroça; de nada mais precisava. Varrer, limpeza geral, por isto decente! Tal embaixador levantara castelos de milionário com o dinheiro da nação? Transferi-lo de embaixada: representante vitalício do Limoeiro em África. Tal ex-ministro compra as quintas, vendendo a vergonha? Penhora e prisão. Os bens ao erário, o corpo à penitenciária. Deslaçar grã-cruzes e chumbar grilhetas. Norte e Leste, lamas do Tejo, Banco Lusitano, obras do estado, etc., etc., todas essas montureiras gangrenadas, — poios de escândalos, obscenamente fermentando ao ar livre, — queimá-las a calcium, purificá-las a vitríolo. Calcamos infâmias, respiramos veneno. Que um ciclone de justiça nos purificasse o ar e desentulhasse as estradas. Caminho livre, atmosfera nova! Quem baldeou o país à ruína, à miséria do lar, à indigência da alma? Idiotas? Aposentá-los em onagros. Bandidos? Metê-los na cadeia.
E a questão econômica? Resolvida por si. Direi mais: útil e necessária. Mas resolvida de que forma? Pelo sacrifício de todos, pela abnegação coletiva. As pátrias, como os indivíduos, só se regeneram sofrendo. A dor é salvadora. Não há virtude sem martírio, não há Cristo sem cruz. A Redenção vem da Paixão. A vida fortalece-se na angústia. Nem só a do homem, a vida inteira, a vida universal. A procela avigora o roble, e o ferro candente adquire a têmpera, mergulhando-o em gelo. Quando a desgraça parece matar uma nação, é que tal nação estava morta. O cáustico, que levantou o doente, decompõe o cadáver.
Resumindo: desastres, misérias, vergonhas, infortúnios, calamidades, subjugadas com energia e padecidas com nobreza, enseivariam de novo alento o coração exânime da pátria. O raio lascou a árvore? Brotaria, amputada, com maior violência. A alma habita na raiz.
Mas seria possível conjurar quatro milhões de interesses, quatro milhões de egoísmos, num ímpeto de fé heroica e de renúncia? Era. Digo-o sem hesitar. O sibarita que ria, o cevado que ronque. Era! O espírito, como o fogo, consome traves, calcina pedras, derrete metais. O facho duma alma pode incendiar uma Babilônia. Um iluminado pode abrasar um império. Tem-se visto. O cofre-forte é de ferro, a libra é de ouro, o egoísmo é de bronze, mas a eletricidade impalpável, invisível, imponderável, volatiliza tudo num momento. Ora o espírito é a eletricidade de Deus. Nada lhe resiste. Devora séculos, evapora mundos. Jesus e Buda, — um crucificado, o outro mendigo, — refazem o globo, põem nova máscara à criação. Joana d'Arc e Nuno Álvares, irmãos gêmeos, redimem duas pátrias. Focos ambulantes de espírito divino, arrastam e vencem, — magnetizando. O céu é contagioso como a lepra.
Claro que o milagre exige a fé. Nem todos os sábios juntos escreveriam os evangelhos. A língua do homem, sem a língua de fogo, não apostoliza, discursa. Um Doutor não é um Messias.
A metempsicose, em moderno, do grande Condestável, eis o meu sonho. Um justiceiro e um crente. Braço para matar, boca para rezar. Pelejas como as de Valverde só se ganham assim: ajoelhando primeiro. O Nuno Álvares de hoje não usaria cota, nem escudo, mas, ao cabo, seria idêntico. A mesma chama noutro invólucro. Não combateria castelhanos, combateria portugueses. O inimigo moranos em casa. Aljubarrota no Terreiro do Paço e os Atoleiros... nos mil atoleiros de infâmias que enodoam as ruas, e obstruem o trânsito. Queríamos um justo inexorável, um santo heroico, com a verdade nos lábios e uma espada na mão. Os quadrilheiros que infestam Lisboa e os sub-quadrilheiros que infestam as províncias, anulá-los, esmagá-los num dia, numa hora, sem pena e sem remorso, vazando-os logo, — atascadeiro de baixezas, lodo de malandros, — pelo buraco infecto duma comua. Depois pregar a tampa. Um coletor in pace, um cano de esgoto jazigo de família.
E, removidos os focos epidêmicos, voltaria em breve a saúde geral. A obra de reconstrução, inda que lenta, marcharia sem estorvo. Humanizar o ensino, nacionalizar a indústria, um clero português e cristão, a justiça fora da política, o exército fora de São Bento, os burocratas para a burocracia, o professorado para as escolas, o poder legislativo entregue às forças independentes e vivas do país, arrotear o solo, colonizar a África, — tudo era possível, tudo era simples, desde que nos dessem uma fé, uma crença, vida luminosa, — uma alma!
Alma! eis o que nos falta. Porque uma nação não é uma tenda, nem um orçamento uma bíblia. Ninguém diz: a pátria do comerciante Araújo, do capitalista Seixas, do banqueiro Burnai. Diz-se a pátria de Herculano, de Camilo, de Antero, de João de Deus. Da mera comunhão de estômagos não resulta uma pátria, resulta uma pia. Sócios não significa cidadãos. O burguês estúpido, perante as calamidades que nos assaltam, computa-as em libras, redu-las a dinheiro. Parece que se trata duma mercearia em decadência. Dívida flutuante, impostos, câmbios, cotações, alfândegas, cifras, dinheiro, nada mais. A ruína moral não entra na conta nem por um vintém. Deve e há de haver, eis o problema. Direito, Justiça, Honra, Pundonor, — palavras! Se o gigo das compras andasse farto e os negócios corressem, podiam encafuar Jesus Cristo na penitenciária e sua Mãe no aljube, que a récua burguesa, dizendo-se católica, não se moveria. O câmbio estava ao par.
Falir um banco, que desastre! Falir uma alma... — Mas que demônio é isto de falir uma alma? —
Ouve lá, burguês rotundo. Um exemplo. Ouviste já nomear por acaso o Fialho de Almeida? Vagamente. Ora bem; esse Fialho é a mais rica natureza artística que Portugal tem gerado há duas dúzias de anos. Um talento grande, rutilando em gênio por instantes. Em gênio, sim. Leiam os Pobres, o Filho, a Velha, o Idílio triste. Natureza de sensibilidade vibrátil, agudíssima, quase mórbida. Depois português, idolatrando o seu Alentejo, adorando a sua pátria, instintivamente, organicamente, como a raiz adora a terra.
A uma tal natureza, em Lisboa, de 90 a 93, hora a hora assistindo à decomposição putrefata daquela percevejaria nausente, não lhe era lícito o refúgio nirvânico dos metafísicos ou dos hábeis na decantada torre de marfim. O Fialho estava pobre e o marfim muito caro. Índole ardente e valorosa, palpitante de plebeísmo robusto, de humanidade sanguínea, olvidou planos de arte, sonho alado, quimera astral, e de chicote nas unhas, mordaz e mordendo, arremeteu contra a fandangagem da sociedade lisboeta, como alguém que marchando direito a um nobre destino, se atirasse de repente às ondas, aventurando a vida, — para salvar um bêbado.
Entre os projetos literários do admirável artista, um havia mais que todos acariciado e fecundo, os Cavadores, rústico poema, síntese sublime da vida da terra, da planta e do camponês, obra de fisiologista, de psicólogo e de poeta, reçumando sangue, transpirando lágrimas, drama tangível e real, movendo-se numa atmosfera enigmática de infinito e de sonho. Um livro elevado. Lisboa rasgou-lho. Em troca deu-lhe os Gatos. Dum poeta épico fez isto: um varredor da Baixa. O Fialho durante três anos varreu o Chiado, espiolhou a Havanesa, catou São Bento. Os trapos converteram-no em trapeiro. A águia baixou a milhafre. O milhafre é útil, depura e limpa. Os Gatos foram, em parte, uma obra de justiça, por vezes de cólera. Mas o rancor dos bons denota ainda bondade. Só os grandes idealistas desceram a grandes satíricos. Cristo dava chicotadas.
Nos Gatos estoura de quando em quando um rugido de tigre. É o melhor do panfleto. O resto, tirante algumas páginas literárias, maravilhosas, descamba na insignificância, — cisco, anedotas, noticiário, zero. O estilo não basta. Uma melancia em bronze não deixa de ser uma melancia. Os Gatos têm valor moral e valor de arte. Mas este é relativo, e portanto inferior, e aquele ineficaz, e por tanto menos proveitoso. Varrer Lisboa nos Gatos, acho bem; varrê-la no Diário do Governo, acharia ótimo. Conclusão: o desmantelamento da sociedade portuguesa atuou no espírito impressionável dum grande poeta, esterilizando-lhe a gênese da obra humana, imorredoura, e fecundando-lhe a semente da obra particularista e transitória. Desviou do seu curso natural a água límpida que regava plátanos e searas para com ela inundar estrumeiras e desentupir esgotos.
Bom burguês, compreendes agora o que é a falência dum espírito? Calcula, pois, em dois milhões de consciências, o déficit moral, a ruína interior, que os teus guarda-livros não escrituram nas agendas. Perdeste dinheiro, meu rico homem, na quebra fraudulenta dum banco? O Fialho e nós perdemos os Cavadores na quebra fraudulenta duma nação. O prejuízo maior foi o nosso. O nosso, o da pátria. Porque é mister que to diga, bom burguês: sem o banco de Portugal ficaríamos pobres 30 anos. Mas sem os Lusíadas ficaríamos pobres para sempre. As libras voltam. O gênio não se repete. Por isso, burguês odioso, te não lamento. Mais ainda: regalam-me às vezes, Deus me perdoe, os teus desastres, lembrando-me que só te levantarás honradamente, quando se te der, de fome, um nó nas tripas! Idiota! Nem egoísta és. Vês apenas dinheiro, e hão de deixar-te sem camisa. Inda bem. Só nu ficarás decente.
Continuemos. A nação, mais do que de libras, carecia de alma. Quem lha daria? Quem a tivesse como o sol tem luz: infinita. Pobre D. Carlos! Que havia de ele dar, — mediocridade palúrdia, já aos 25 anos atascado no sebo dinástico, nas banhas brigantinas! Alma? Bem alma, não; quase, pequena diferença: lama. Uma inversão de duas letras. Ligeiro lapso, cuja emenda é esta: Viva a república!
O rei falhara. Nulo, insignificante. Pedir-lhe gênio, heroísmo, grandeza, sublimidade, — o mesmo que pedir astros a uma couve ou raios a uma abóbora.
A existência da pátria dependia da revolução. O rei não pode, não soube, ou não quis fazê-la. Em suma, não a fez. Perdeu-se. Que restava? Fazê-la o povo. Não a fazendo, perdia-se também.
O rei, em vez de cortar o cancro, identificou-se com ele. Chaga maior, operação mais grave. Já ninguém suprimirá o cancro, sem suprimir a realeza.
O Republicanismo não é aqui uma fórmula de direito público; é a fórmula extrema de salvação pública. No prédio em chamas há só uma janela aberta. Preferem os monárquicos morrer queimados, por a janela estar pintada de vermelho? Fosse ela branca, que eu saltaria sem escrúpulos.
Republicano e patriota tornaram-se sinônimos. Hoje quem diz pátria, diz república. Não uma república doutrinária, estupidamente jacobina, mas uma república larga, franca, nacional, onde caibam todos. Não dum partido, da nação. Presidente o melhor. Foi por acaso miguelista? Embora. Uma revolução por seleção de caracteres.
Tal movimento cívico, espiritualizado e grande, requeria pelo menos um homem. Existe? Existiu: José Falcão.
José Falcão! Alma tão nobre de patriota não a conhecerei jamais. A ideia de pátria, feita verbo, nela encarnara divinamente. Hóstia sublime! Trigo de comunhão deu-nos a fé, e trigo de viático, na hora da nossa morte, dá-nos ainda a esperança.
À volta de mim vejo monturos, dentro de mim encaro cinza. Tudo acabou, não é verdade? Melancolicamente revolvo a cinza, poeira de quimeras, e uma flâmula fulge, uma brasa crepita... É a alma dele... Não quer apagar-se. Mesmo dentro de nós, túmulos cerrados, continua ardendo. Amanhã de tais campas podem brotar ainda lavaredas.
Grande homem! Como o sangue em momento de pânico reflui de chofre ao coração, dir-se-ia que na hora suprema toda a alma da pátria naquela alma se ajuntara.
Em José Falcão a inteligência era robusta, a ciência enorme, mas a grandeza moral incomparável e soberana. Dizia o que pensava, fazia o que sentia. Um justo. Portanto, um solitário. Querendo viver puro, viveu em si mesmo. Isolou-se. Nem ambicioso, nem vaidoso. Nos altos píncaros, de gelo e de luz, não há micróbios.
Egoísta intelectual? Nunca. Ânimo generoso, os problemas sociais cativaram-no. A sociedade evitou-a. Livros e família: cérebro pensando, coração amando.
Mas o sentimento da pátria com tal furor e febre lhe girava no sangue, tão inato e profundo lhe ardia lá dentro, que aquele homem de ideias instantaneamente se volveu, como por milagre, em homem de ação. O ruído molestava-o; procurou o ruído. A turba incomodava-o; procurou a turba. Agitou-se três anos em movimento frenético. Pátria! Pátria! a visão constante, o sonho de toda a hora! Fogo sagrado, fogo devorador. Queimou-se, abrasou-se nele. Autode-fé dum corpo nas lavaredas duma crença.
O patriotismo tornara-se em José Falcão um misticismo. Compreende-se bem. Ideia tão inflamável, em tão candente natureza moral sublima-se, ilumina-se, perde-se no êxtase, no enlevo, no transcendentalismo religioso. Aquele homem exalava de si o quer que fosse de sobrenatural e de divino. Sentia-se que no grande momento arriscaria tudo: família e vida, fortuna e lar. Através do crente apercebia-se o herói. Por isso arrastava. A eloquência vinhalhe espontânea, dominadora, magnética. Não a eloquência literária dos artistas. Eloquência de alma, verbo interior, luz de uma chama.
Depois naquele homem tudo era português, sóbrio, simples, varonil, vernáculo: figura, gesto, palavra, entonação, modo de vestir, maneira de andar. Tudo beirão, tudo nosso. Nem um galicismo. Austero e risonho, violento e meigo, — a singeleza na grandeza. Lembrava ainda o Condestável. Como ele, espírito heroico, braço de ferro para o comando, boca de santo para a piedade.
Extenuado e letárgico, pressentindo a morte, nunca desanimou. Pois a doença da pátria não era ainda bem mais grave? Por ela sim, desejaria viver, desejaria morrer. A força física abandonava-o, só a vontade sobre-humana o tinha de pé. Era já uma existência feita de ressurreições, um ideal galvanizando um cadáver.
Dizia-nos ele, quase no fim: Não duro muito; aproveitem-me.
Morria daí a meses.
Não há uma íntima e dolorosa afinidade entre a alma quebrantada dum povo, baldadamente, durante séculos, evocando um Messias, e a breve aparição dum redentor, miragem súbita, que mal se desenha se desfaz?
Tal a árvore-espectro, frutos de aurora sonhando, caveiras torvas produzindo, que um dia gerou, milagre de amor! o pomo de ouro deslumbrante, e o viu desprender, esbroando em cinza, do galho nu, do ramo estéril de esqueleto...
Árvore noturna, a morte gira-te nas veias, e os frutos de Ideal que tu concebes já trazem no âmago, quando nascem, as larvas deletérias do sepulcro...
Desiludido, assim o creio por vezes. Depois a um golpe de sol, o Quixote revive, exalto-me de novo, de novo espero... Florinha azul, beijo de Deus, — divina Esperança...
Escrevi há ano e meio as páginas que aí ficam. Tencionava completálas, documentando-as. Inútil. O inquérito definitivo à montureira circundante é a ferro e fogo, não a pena e a tinta, que deve executarse.
Ampliarei ainda estas anotações com o protesto que foi dado a lume, quando o governo tolheu a homenagem a Guilherme Braga. É um rápido exame dos planos últimos da monarquia. Por isso o transcrevo. Ei-lo:
O governo proibiu a manifestação anti-jesuítica, que hoje deveria realizar-se no cemitério de Agramonte em volta da campa do grande poeta Guilherme Braga.
Os jesuítas são o auxiliar da monarquia. Atacando-os, atacamos o Rei. O ministério não o permite. Não há que estranhar. É lógico.
Desde a crise do ultimatum inglês, que tanto podia significar uma onda de vida nova como o estertor dum moribundo, resvala a nação, dia a dia, ao letargo estúpido da indiferença. Estará morta? Estará cataléptica? O futuro, breve talvez, o vai dizer.
Mas na opinião do mundo, já Portugal não existe. Dura, mas não existe. Dura geograficamente, mas não existe moralmente. A Europa já considera isto uma coisa defunta, espólio a repartir, iguaria a trinchar. Salva-nos da gula dos comensais a rivalidade dos apetites. No dia em que se harmonizem devoram-nos.
Como resistir? pela força física? impossível. Não há balas nem libras, não há ouro nem ferro. Qual o meio então? Um único: a força moral. Não vale tudo, mas vale alguma coisa. Na balança da realidade efêmera, os canhões pesam como bronze, e o Direito e a Justiça pesam como ar. Sim; às vezes, não sempre.
Houve profetas que domaram leões: mártires que aterraram algozes. E quando um homem ou um povo sucumbem altivos em nome da verdade, esse homem ressuscitará nas consciências, e esse povo ressuscitará na História. O justo, expirando na Cruz, ao terceiro dia levanta-se do túmulo. O covarde, mergulhando em lodo, em lodo agoniza e em lodo se transforma.
Qual era, pois, a grande missão de um governo em Portugal? Fazer de quatro milhões de espíritos um só espírito, juntar quatro milhões de vontades numa só vontade. Raios de luz divergentes, aquecem; convergentes abrasam. Um cento de meias abnegações individuais perdem-se, quase estéreis, na indiferença coletiva. Não mudam aos olhos da Europa a fisionomia portuguesa. Mas a abnegação e o sacrifício de todos, a comunhão unânime e grandiosa num ideal de Justiça, num ideal de Pátria, transfigurar-nos-ia por encanto, de povo de chatins em povo de heróis, de mortos com direito ao cemitério, em gente viva com direito ao pão, com direito à luz.
E o problema religioso, nada mais singelo: na esfera do pensamento, liberdade absoluta; na esfera dos atos, tolerância recíproca.
O povo dos campos mantêm a sua fé tradicional. Quando se dirige a Deus precisa ainda uma língua: o Padre. Faltando-lhe a hóstia, faltalhe Cristo. Levando-lhe a igreja, levam-lhe o Céu.
O Catolicismo é roble caduco, mas nos galhos exangues, de verdura pálida, inúmeras aves inocentes gorjeiam ainda, fabricam o ninho em que adormecem. Não lancemos o machado ao tronco do roble, sem dar aos corações ingênuos, que o povoam, outra verdura calma onde se abriguem. O mundo rola no infinito; no infinito deve igualmente girar o espírito do homem. Ai dos que vivem só na terra, olhando o horizonte com o olhar da carne! Esses não vivem. Andam quilômetros e contam horas, mas o Espaço é a jornada da alma e o Tempo a hora eterna que não finda. O homem sem o ideal sobrehumano, regressa à bestialidade donde veio.
Se o cavador miserável não comunga em Cristo senão pela hóstia, que a hóstia lhe seja oferecida, mas cândida e branca, em mãos de misericórdia e de pureza. Organizem um clero nacional e cristão, evangelista pela virtude, embora católico pelo dogma. Varram da Igreja a estrumeira política; para bispos escolham santos, e a questão religiosa desaparece num momento. Spinoza ou Schopenhauer entender-se-iam muito bem com São Francisco de Assis.
Porém, os homens que há muito dirigem os destinos da Nação, últimas varreduras do constitucionalismo agonizante, quase sempre democratas vazios aos vinte anos, e cínicos redondos aos quarenta, são incapazes de um plano de governo, gerado numa filosofia superior, amoldado a uma razão prática luminosa e traduzido em fatos, por uma vontade inabalável e contínua. Que eles, francamente, visam apenas salvar o seu interesse, o seu egoísmo e as suas lantejoulas de medíocres.
Conservam a realeza no intuito de se conservarem a si próprios. Mas uma realeza moribunda só entre mortos alcançará reinar. Fazer do País um cemitério de almas, eis o problema. As associações protestam? Dissolvidas. Os clubes ameaçam? Trancados. As Cortes incomodam, às vezes? Suprimem-se. Os jornais irritam? Cadeia. Todo o obstáculo, desfazê-lo: se é venalidade, pela compra; se é moralidade, pela tirania. Há consciências que se indignam? Prendam-nas. Há gente que se revolte? Fuzilem-a. Ordem! muita ordem! Quer dizer: Silêncio! Digerir e calar. O País inteiro uma campina rasa, e nela manobrando, ovante e livre, o general Queirós. Olhai: galopa de Norte a Sul e nem um montículo para surpresas, uma ravina para emboscadas. Planura perfeita: bem chã, bem unida e bem morta. Vivos, a municipal e a polícia.
Receio, pois, de quem? da burguesia liberal? Por via de regra o burguês, liberal ou não, traz nos intestinos um polícia ingênito: o medo. Anda guardado.
Receio do operário? O operário português é sofredor e humilde. A grande indústria concentra-se em Lisboa e Porto, onde a polícia usa revólveres e a municipal Kropatcheks. Contudo, a maré do socialismo invade, formidável, os parlamentos europeus. À cautela, proteger São Bento. Decreta-se uma lei, inutilizando o voto ao operário: eleitor, às vezes; elegível, nunca.
Receio do exército? Lisonjeá-lo... e diminuí-lo. O exército é a municipal.
Ótimo. Só fica uma nuvem negra: os campos, a plebe da enxada. Horda infinita. Na alucinação da miséria, quem a há de conter? O Queirós? O Graça? Não chegam. Só um Queirós em cada aldeola, um Graça em cada freguesia. O perigo, enorme, vem daí. Meio milhão de esfarrapados com este general — a Fome, tornam-se invencíveis. Existe apenas um recurso: Deus. Muito bem. Trate-se com Deus.
Il i avec le ciel des acomodements. Há efetivamente. Mas conforme o céu, e conforme o Deus. O Deus dos Evangelhos, por exemplo, é um Deus esquisito, não presta. Leva à submissão, nunca à ignomínia. Capaz de gerar um mártir, nunca um hipócrita. Depois, a sua doutrina igualitária, em certos temperamentos, cria alucinados, produz rebeldes. O Niilismo é filho bastardo de Jesus. E ele, o próprio Deus, numa crise de cólera, não desatou às chicotadas? Com o Deus do Calvário, abrigo de humildes, redentor de plebes, um homem de estado, espelho de cordura, não deve entrar em negócios. Arrisca-se.
Quer-se um Deus maleável, arguto, céptico, inteligente: o Deus da Companhia de Jesus. Ora aí está um Deus civilizado, sem preconceitos, útil a um governo. Instruído e metódico, ambicioso e cauteloso. Boa educação, boas maneiras, limpeza de roupas, latim excelente.
Sabe catequizar uma duquesa ou fanatizar uma peixeira. Dispõe de infernos com lavaredas de fogo ou lavaredas de gaze, de céus confortáveis para gente rica e céus de quinto andar para a canalha.
Harmoniza o lausperene com a quermesse, São Carlos com Santo Inácio, um sermão com um baile, e o Espírito-Santo da Igreja de São Luís com o tiro aos pombos na tapada da Ajuda.
Por isso a monarquia firmou aliança com o Jesuíta, e o Jesuíta vai esburacando o subsolo moral da pátria portuguesa. Alastrou, minou, furou sem ninguém ver. Debaixo da terra. Agora aparece. Caminhou na sombra, de joelhos, como um larápio. Agora mostrase. Mostra-se e desafia. A rede escura da sua influência abrange a área da nação. Colégios e conventos em todas as cidades, em todas as províncias. Levantou baluartes, estrategicamente, escolhendo o terreno. Julga-se inexpugnável. Manobra à luz, desfila em batalhões, forma em revistas. É a guarda municipal da consciência portuguesa. O seu Deus corresponde-se com o ministério, tem entrada na corte e verba no orçamento.
Perguntarão: Se o governo dispunha do clero, por que chamou o jesuíta? Se havia de casa o abade, por que recorreu ao missionário? É que o abade, desmoralizado pelo constitucionalismo em sessenta anos de tranquibernia eleitoral, perdeu, lentamente, aos olhos do camponês, o caráter augusto de intermediário de Jesus. O missionário, ainda não.
E eis aí porque o governo pactuou com o jesuíta, e nos inibe de responder, como desejávamos, àquela entrudada grotesca de Santo Antônio, que durante semanas emporcalhou as ruas de Lisboa. Carnaval sacrílego! A humildade, a virtude e a pureza do sublime franciscano, enxovalhadas e calcadas em correrias de titeriteiros e de bêbedos! O discípulo cândido da mais angélica alma que ventre materno deu à luz, exposto a glorificações mercenárias, a apoteoses aviltantes! Para celebrar a dor, foguetórios e músicas! Para celebrar a mansidão, touradas e baionetas! Para celebrar a renúncia, jogos e touros, galopes e clarins! Um banquete suntuoso, uma rainha constelada de joias, convivas em fardalhões auriluzentes, damas cobertas de brocado, na mesa opulenta uma hecatombe luculiana, e um burguês anafado e ventrudo, ao dessert, copo de champanhe na mão, erguendo um brinde (com arrotos), à doçura, à singeleza evangélica do amigo do Poverélo, de Santo Antônio de Lisboa! E não fulminou Deus o animalejo estercorário!
E, por fim, aquela debandada de entremez eclesiástico, em que os padres de Jesus, loucos de terror, cegos de covardia, largavam da mão as coroas e as insígnias, para melhor se escapulirem, desordenados e fedorentos.
Iremos a Agramonte, iremos silenciosos, a um e um, esconder em flores o túmulo modesto desse belo poeta, a quem a sociedade, em troca do Gênio, doou amarguras e vilipêndios. Tardia romagem da nossa indesculpável ingratidão. E, enquanto a protestos ruidosos, só um a fazer. Mas esse deve fazê-lo a nação inteira, e sem pedir licença aos governantes. Protesto único e definitivo, donde resulte uma sociedade virtuosa e nobre, equitativa e harmônica, impregnada, nas leis e nos costumes, da moral sublime de Jesus, e refratária, portanto, à moral ambígua do Jesuíta.
Ampliarei ainda estas anotações com o protesto que foi dado a lume, quando o governo tolheu a homenagem a Guilherme Braga. É um rápido exame dos planos últimos da monarquia. Por isso o transcrevo. Ei-lo:
O governo proibiu a manifestação anti-jesuítica, que hoje deveria realizar-se no cemitério de Agramonte em volta da campa do grande poeta Guilherme Braga.
Os jesuítas são o auxiliar da monarquia. Atacando-os, atacamos o Rei. O ministério não o permite. Não há que estranhar. É lógico.
Desde a crise do ultimatum inglês, que tanto podia significar uma onda de vida nova como o estertor dum moribundo, resvala a nação, dia a dia, ao letargo estúpido da indiferença. Estará morta? Estará cataléptica? O futuro, breve talvez, o vai dizer.
Mas na opinião do mundo, já Portugal não existe. Dura, mas não existe. Dura geograficamente, mas não existe moralmente. A Europa já considera isto uma coisa defunta, espólio a repartir, iguaria a trinchar. Salva-nos da gula dos comensais a rivalidade dos apetites. No dia em que se harmonizem devoram-nos.
Como resistir? pela força física? impossível. Não há balas nem libras, não há ouro nem ferro. Qual o meio então? Um único: a força moral. Não vale tudo, mas vale alguma coisa. Na balança da realidade efêmera, os canhões pesam como bronze, e o Direito e a Justiça pesam como ar. Sim; às vezes, não sempre.
Houve profetas que domaram leões: mártires que aterraram algozes. E quando um homem ou um povo sucumbem altivos em nome da verdade, esse homem ressuscitará nas consciências, e esse povo ressuscitará na História. O justo, expirando na Cruz, ao terceiro dia levanta-se do túmulo. O covarde, mergulhando em lodo, em lodo agoniza e em lodo se transforma.
Qual era, pois, a grande missão de um governo em Portugal? Fazer de quatro milhões de espíritos um só espírito, juntar quatro milhões de vontades numa só vontade. Raios de luz divergentes, aquecem; convergentes abrasam. Um cento de meias abnegações individuais perdem-se, quase estéreis, na indiferença coletiva. Não mudam aos olhos da Europa a fisionomia portuguesa. Mas a abnegação e o sacrifício de todos, a comunhão unânime e grandiosa num ideal de Justiça, num ideal de Pátria, transfigurar-nos-ia por encanto, de povo de chatins em povo de heróis, de mortos com direito ao cemitério, em gente viva com direito ao pão, com direito à luz.
E o problema religioso, nada mais singelo: na esfera do pensamento, liberdade absoluta; na esfera dos atos, tolerância recíproca.
O povo dos campos mantêm a sua fé tradicional. Quando se dirige a Deus precisa ainda uma língua: o Padre. Faltando-lhe a hóstia, faltalhe Cristo. Levando-lhe a igreja, levam-lhe o Céu.
O Catolicismo é roble caduco, mas nos galhos exangues, de verdura pálida, inúmeras aves inocentes gorjeiam ainda, fabricam o ninho em que adormecem. Não lancemos o machado ao tronco do roble, sem dar aos corações ingênuos, que o povoam, outra verdura calma onde se abriguem. O mundo rola no infinito; no infinito deve igualmente girar o espírito do homem. Ai dos que vivem só na terra, olhando o horizonte com o olhar da carne! Esses não vivem. Andam quilômetros e contam horas, mas o Espaço é a jornada da alma e o Tempo a hora eterna que não finda. O homem sem o ideal sobrehumano, regressa à bestialidade donde veio.
Se o cavador miserável não comunga em Cristo senão pela hóstia, que a hóstia lhe seja oferecida, mas cândida e branca, em mãos de misericórdia e de pureza. Organizem um clero nacional e cristão, evangelista pela virtude, embora católico pelo dogma. Varram da Igreja a estrumeira política; para bispos escolham santos, e a questão religiosa desaparece num momento. Spinoza ou Schopenhauer entender-se-iam muito bem com São Francisco de Assis.
Porém, os homens que há muito dirigem os destinos da Nação, últimas varreduras do constitucionalismo agonizante, quase sempre democratas vazios aos vinte anos, e cínicos redondos aos quarenta, são incapazes de um plano de governo, gerado numa filosofia superior, amoldado a uma razão prática luminosa e traduzido em fatos, por uma vontade inabalável e contínua. Que eles, francamente, visam apenas salvar o seu interesse, o seu egoísmo e as suas lantejoulas de medíocres.
Conservam a realeza no intuito de se conservarem a si próprios. Mas uma realeza moribunda só entre mortos alcançará reinar. Fazer do País um cemitério de almas, eis o problema. As associações protestam? Dissolvidas. Os clubes ameaçam? Trancados. As Cortes incomodam, às vezes? Suprimem-se. Os jornais irritam? Cadeia. Todo o obstáculo, desfazê-lo: se é venalidade, pela compra; se é moralidade, pela tirania. Há consciências que se indignam? Prendam-nas. Há gente que se revolte? Fuzilem-a. Ordem! muita ordem! Quer dizer: Silêncio! Digerir e calar. O País inteiro uma campina rasa, e nela manobrando, ovante e livre, o general Queirós. Olhai: galopa de Norte a Sul e nem um montículo para surpresas, uma ravina para emboscadas. Planura perfeita: bem chã, bem unida e bem morta. Vivos, a municipal e a polícia.
Receio, pois, de quem? da burguesia liberal? Por via de regra o burguês, liberal ou não, traz nos intestinos um polícia ingênito: o medo. Anda guardado.
Receio do operário? O operário português é sofredor e humilde. A grande indústria concentra-se em Lisboa e Porto, onde a polícia usa revólveres e a municipal Kropatcheks. Contudo, a maré do socialismo invade, formidável, os parlamentos europeus. À cautela, proteger São Bento. Decreta-se uma lei, inutilizando o voto ao operário: eleitor, às vezes; elegível, nunca.
Receio do exército? Lisonjeá-lo... e diminuí-lo. O exército é a municipal.
Ótimo. Só fica uma nuvem negra: os campos, a plebe da enxada. Horda infinita. Na alucinação da miséria, quem a há de conter? O Queirós? O Graça? Não chegam. Só um Queirós em cada aldeola, um Graça em cada freguesia. O perigo, enorme, vem daí. Meio milhão de esfarrapados com este general — a Fome, tornam-se invencíveis. Existe apenas um recurso: Deus. Muito bem. Trate-se com Deus.
Il i avec le ciel des acomodements. Há efetivamente. Mas conforme o céu, e conforme o Deus. O Deus dos Evangelhos, por exemplo, é um Deus esquisito, não presta. Leva à submissão, nunca à ignomínia. Capaz de gerar um mártir, nunca um hipócrita. Depois, a sua doutrina igualitária, em certos temperamentos, cria alucinados, produz rebeldes. O Niilismo é filho bastardo de Jesus. E ele, o próprio Deus, numa crise de cólera, não desatou às chicotadas? Com o Deus do Calvário, abrigo de humildes, redentor de plebes, um homem de estado, espelho de cordura, não deve entrar em negócios. Arrisca-se.
Quer-se um Deus maleável, arguto, céptico, inteligente: o Deus da Companhia de Jesus. Ora aí está um Deus civilizado, sem preconceitos, útil a um governo. Instruído e metódico, ambicioso e cauteloso. Boa educação, boas maneiras, limpeza de roupas, latim excelente.
Sabe catequizar uma duquesa ou fanatizar uma peixeira. Dispõe de infernos com lavaredas de fogo ou lavaredas de gaze, de céus confortáveis para gente rica e céus de quinto andar para a canalha.
Harmoniza o lausperene com a quermesse, São Carlos com Santo Inácio, um sermão com um baile, e o Espírito-Santo da Igreja de São Luís com o tiro aos pombos na tapada da Ajuda.
Por isso a monarquia firmou aliança com o Jesuíta, e o Jesuíta vai esburacando o subsolo moral da pátria portuguesa. Alastrou, minou, furou sem ninguém ver. Debaixo da terra. Agora aparece. Caminhou na sombra, de joelhos, como um larápio. Agora mostrase. Mostra-se e desafia. A rede escura da sua influência abrange a área da nação. Colégios e conventos em todas as cidades, em todas as províncias. Levantou baluartes, estrategicamente, escolhendo o terreno. Julga-se inexpugnável. Manobra à luz, desfila em batalhões, forma em revistas. É a guarda municipal da consciência portuguesa. O seu Deus corresponde-se com o ministério, tem entrada na corte e verba no orçamento.
Perguntarão: Se o governo dispunha do clero, por que chamou o jesuíta? Se havia de casa o abade, por que recorreu ao missionário? É que o abade, desmoralizado pelo constitucionalismo em sessenta anos de tranquibernia eleitoral, perdeu, lentamente, aos olhos do camponês, o caráter augusto de intermediário de Jesus. O missionário, ainda não.
E eis aí porque o governo pactuou com o jesuíta, e nos inibe de responder, como desejávamos, àquela entrudada grotesca de Santo Antônio, que durante semanas emporcalhou as ruas de Lisboa. Carnaval sacrílego! A humildade, a virtude e a pureza do sublime franciscano, enxovalhadas e calcadas em correrias de titeriteiros e de bêbedos! O discípulo cândido da mais angélica alma que ventre materno deu à luz, exposto a glorificações mercenárias, a apoteoses aviltantes! Para celebrar a dor, foguetórios e músicas! Para celebrar a mansidão, touradas e baionetas! Para celebrar a renúncia, jogos e touros, galopes e clarins! Um banquete suntuoso, uma rainha constelada de joias, convivas em fardalhões auriluzentes, damas cobertas de brocado, na mesa opulenta uma hecatombe luculiana, e um burguês anafado e ventrudo, ao dessert, copo de champanhe na mão, erguendo um brinde (com arrotos), à doçura, à singeleza evangélica do amigo do Poverélo, de Santo Antônio de Lisboa! E não fulminou Deus o animalejo estercorário!
E, por fim, aquela debandada de entremez eclesiástico, em que os padres de Jesus, loucos de terror, cegos de covardia, largavam da mão as coroas e as insígnias, para melhor se escapulirem, desordenados e fedorentos.
Iremos a Agramonte, iremos silenciosos, a um e um, esconder em flores o túmulo modesto desse belo poeta, a quem a sociedade, em troca do Gênio, doou amarguras e vilipêndios. Tardia romagem da nossa indesculpável ingratidão. E, enquanto a protestos ruidosos, só um a fazer. Mas esse deve fazê-lo a nação inteira, e sem pedir licença aos governantes. Protesto único e definitivo, donde resulte uma sociedade virtuosa e nobre, equitativa e harmônica, impregnada, nas leis e nos costumes, da moral sublime de Jesus, e refratária, portanto, à moral ambígua do Jesuíta.
Eis aí, em síntese, a obra do rei e do governo. Obra de estupidez, obra efêmera. Imbecis. Conhecem, da Eternidade, o minuto em que jantam, e, do Espaço, as doze cabeças de comarca onde fazem bulha. Raciocinam com os pés, com as mãos, com os olhos, com os ouvidos, com o estômago. No crânio, farelos. Supõem-se grandes, e não existem. Mandam, decretam, dão ordens, e não existem. Só espiritualmente se existe, vivendo no infinito, e eles, espiritualmente, moram no vão duma escada.
E julgam, os idiotas, salvar o rei! Por que forma? Já o disse: tornando o país um cemitério de almas. Dinastias agonizantes querem vassalos defuntos. Entre quatro milhões de cadáveres um ventre com duas pernas, dois braços, uma abóbora nos ombros e uma espada na mão, a distância, movendo-se, ilude ainda: parece gente. Rodeiam-no baionetas, cavaleiros o guardam. Contra quem? contra os mortos. Invencível então, não é verdade? Perdido, inteiramente perdido. Se os mortos ressurgem, ele evapora-se. Se tudo é findo, se os Lázaros se não levantam, quando chegarem os corvos, principiarão por ele o seu banquete. Ou devorado pela nação, ou devorado pelo estrangeiro. A nação acorda? É o exílio. Submete-se? É que está morta, e, das nações que morrem, as nações vivas se alimentam.
Mas, por enquanto, folga. O dia de hoje pertence-lhe. O estado é o rei. Cidadão há um único: D. Carlos. Os deveres são nossos, os direitos, dele. É dele o meu pensamento, é dele a minha bolsa, é dele a minha vida. Estrangula-me as ideias, arromba-me a gaveta, ou corta-me o pescoço, conforme queira. A justiça é um relógio que ele atrasa, adianta ou faz parar, segundo lhe dá na vontade. Decreta a Lei e nomeia o Juiz. O parlamento é o seu capricho. Entre uma tourada e uma ferra, escreve ordenações com uma navalha. O país é D. Carlos. Seja. E quem é D. Carlos? Aí vai um retrato que é um libelo:
Torre do Outão. Esta primeira fantasia régia de sua majestade importou em duzentos contos de réis, ou mais, subtraídos ao tesouro. Juridicamente, um crime. Artisticamente, uma indecência.
Exéquias de D. Luís, mandadas celebrar pelo município de Lisboa, capital do reino: Sua majestade, apesar de convidado, não quis assistir. Foise aos coelhos para o Alfeite. Se vagueiam no ar as almas dos que morrem, a de D. Luís I, nesse dia, chumbou-a porventura, ao levantar da hóstia nas exéquias, a filial escopeta do Sr. D. Carlos.
Ultimatum inglês: Roubados e insultados. O país protesta, num vigoroso movimento de indignação e de cólera. Uma criatura houve que ficou impassível: o rei. Não teve aquela mão um gesto de furor, não encontrou aquela boca uma palavra de altivez. No dia seguinte, em carro descoberto, charuto a arder, expunha D. Carlos, na Avenida, aos transeuntes atônitos, a inconsciência lorpa da sua figura habitual.
Convênio inglês: O art. 75º da constituição do reino diz o seguinte: O rei é o chefe do poder executivo e o exercita pelos seus ministros de Estado. São suas principais atribuições: § 8º Fazer tratados. Bem. De duas, uma: ou o rei conhecia o convênio que o Sr. Barjona negociava em Londres, ou não o conhecia. Naquela hipótese, todas as injúrias, todos os doestos, toda a lama aviltante, que a nação, às mãos ambas, arremessou ao convênio, caem, de chofre, em sua majestade. Se era alheio ao convênio, alheio e indiferente a um ato nacional, de vida ou de morte para a honra da pátria, então ou sua majestade é um miserável ou sua majestade é um irresponsável. Daqui não há fugir.
Chegam a Lisboa as bases do convênio. O Sr. D. Carlos em 21 de agosto de 1890, ao procurar nos jornais o anúncio dos teatros, viu-as naturalmente, viu-as decerto. Ignorância, agora, não a pode alegar. Conhecia o crime. Que fez? Abram as Novidades de 22 de agosto. No artigo editorial, violentíssimo, há estes períodos:
"Na história da nossa decadência, levantou-se um novo e ruinoso padrão. O tratado do Sr. Hintze Ribeiro segue-se nesta série lamentosa ao tratado de Metwen, e deixa-o no escuro.
Em nossa honra e consciência, diremos alto e bom som: o tratado firmado em nome de Portugal com a Inglaterra é um padrão de imperecível ignomínia, e o dia, em que o seu texto completo for publicado no Diário do Governo, deverá ser considerado por todos os cidadãos amantes do seu país como um verdadeiro dia de luto nacional."
E mais adiante, na 3ª coluna, sob o título — As festas em Sintra, o Rali paper, o Baile, — escreve ainda o mesmo jornal:
"Conforme estava anunciado, realizou-se ontem em Sintra, nos terrenos da Granja do Marquês, o Rali paper. Perto das 3 horas chegaram el-rei e a rainha num landeau à Daumont, acompanhados pela Sra. D. Josefa Sandoval, veador Antônio de Vasconcelos e oficial às ordens A. de Serpa."
Segue uma comprida nomenclatura de altos senhores e nobilíssimas damas, que, em volta do rei, tomaram parte na função.
E conclui a notícia de 1890.
Hip, hip, hurrah! God save te King! Viva Salisburi! Viva D. Carlos! Que imundície!
Sua majestade, ainda à última hora, doente, no castelo da Pena, queria a recomposição do gabinete Serpa, isto é, mantinha o convênio. Foi o Sr. João Crisóstomo quem determinou a queda do governo, afirmando ao rei que, se ele insistisse, a revolução era inevitável.
Sintetizando: O tratado de 20 de agosto, no juízo da imensa maioria do país, quase a unanimidade, significava a última das afrontas, a última das vergonhas. Pois o Sr. D. Carlos deixou-o negociar, no dia que ele chegou a Lisboa celebrou uma festa, sustentou-o meses contra a vontade clara da nação, largando-o apenas, humilhado, diante das baionetas e da revolta.
O país, rasgando-o, rasgou-lho na cara.
Revolta do Porto: O Verbo era de luz. Encarnou mal. Daí o desastre. A lava purpúrea, não abrindo cratera, rompeu, angustiosa, por uma fenda. Colem o ouvido na montanha: há trovões lá dentro. Um dia destes será vulcão. Adiante...
O município do Porto, em 12 de fevereiro de 91, dirigiu ao rei uma mensagem. Copio dela estas frases:
"Não basta repelir e condenar os fatos, é mister, mais que tudo, inquirir das causas que os tornam possíveis e mesmo fáceis. E a consciência nacional, interrogada, responde sem hesitar que erros de muitos anos; abusivas tolerâncias em toda a espécie de deveres sociais e públicos; quebras frequentes de disciplina, tanto na classe militar como em toda a ordem de serviços públicos; relaxação no cumprimento das obrigações de cada um; irresponsabilidade frequente para faltas de toda a ordem; deploráveis complacências acobertadas com o que abusivamente se chama a doçura dos nossos costumes, tais parecem as causas gerais que permitiram e facilitaram tão deploráveis acontecimentos. E a câmara municipal do Porto, neste momento intérprete dos sentimentos da cidade, entende que faltaria ao seu dever, se não chamasse a atenção de Vossa Majestade sobre estes males, que é dever de todos os cidadãos, desde a mais elevada jerarquia à mais humilde condição, combater e destruir a todo o custo, se quisermos salvar a nossa pátria do inevitável naufrágio das nações que chegam a semelhante estado.".
(Extrato da representação da Câmara do Porto ao Rei, em 12 de fevereiro de 91.)
Eis agora o extrato da resposta do Sr. D. Carlos:
"O sustentamento da justiça e a rigorosa aplicação das leis são o fundamento moral de toda a sociedade bem organizada; a pública administração tem de ser necessariamente econômica e modesta; a política precisa de se mostrar, agora e sempre, evidentemente elevada e respeitável nos seus intentos e nos seus caracteres dominantes. Estes salutares princípios que a digna vereação municipal do Porto me relembra na sua mensagem, professo-os eu como verdades fundamentais, e tenho-os para normas inquebrantáveis da minha magistratura constitucional. Diz-me a consciência que lhes tenho sido fiel; e se ainda não pude mostrar toda a minha profunda dedicação pela nossa pátria, tem sido isso devido ao pouco tempo da minha vida de rei, desgraçadamente assombrada por acontecimentos de que me não cabe a responsabilidade, mas de que sinto, como os que muito a sentem, a triste e dolorosa significação."
Que quer isto exprimir? Que a câmara do Porto, com o aplauso de D. Carlos, justificou a revolta de 31 de janeiro. Embora lhe desaprovassem a forma, justificavam-lhe a essência. Mas a braveza dum ato, quando a razão o determina, desculpa-se bem. Há um julgador que diz a um réu: "A lei condena-te, mas a verdade absolve-te." Que faz esse juiz, quando ele é um rei? Perdoa.
Volveram anos. Os grandes criminosos, a que se referia a mensagem do município do Porto, onde é que estão? Nas mais altas dignidades, rodeando o trono.
E o tenente Coelho, meu senhor? onde é que está ele? Apodrecendo em África.
Viagem do Sr. D. Carlos ao Porto, depois do 31 de janeiro: Mais dum ano decorrera, antes de sua majestade se abalançar à viagem. Serenados os ânimos, mete-se a caminho. Os estudantes, em Coimbra, assobiam-no. Chega ao Porto. Desfila o cortejo. Ao lado do carro de sua majestade seguia um chefe de esquadra, a pé, durindana ao vento. Entala-se-lhe o gládio numa das rodas, partindo-se em bocados. O monarca desembainha, veloz, a sua espada de comandante em chefe, e bizarramente lha entrega com donairosa cortesia. Lá está na esquadra.
Baile do ministro inglês, em Sintra: No verão de 1892 dava o ministro inglês uma festa pomposa em honra do Sr. D. Carlos. Sua majestade aceitou-o. O ministro inglês, naquele instante, era a Inglaterra. O soberano de Portugal era a nação portuguesa. Pois o rosto que levara a bofetada sangrenta ia ver-se aos espelhos do animalejo que lha dera! Ia limpar os escarros ao guardanapo de quem lhos atirou!
Um rei que a fatalidade inexorável, que o destino impiedoso submetesse, algemado, a semelhante vergonha, choraria de raiva lágrimas de sangue, a não guardar no íntimo da alma, como D. Carlos, o retrato de D. João VI, num pataco falso. Desejaria eu ver, em lance de tal ordem, a grande e melancólica figura de D. Pedro V. Que trágica altivez e que dorida nobreza não exprimiria o seu olhar! E D. Carlos? D. Carlos, em toda aquela noite pavorosa, jogou descuidadamente o bleuf, espécie de batota, com dois casquilhos elegantes do mundanismo que se diverte. Verifiquem, lendo o Jornal do Comércio, que relatou o baile. Acrescento mais: quem o relatou assistiu a ele.
Dissolução das cortes. Primeiro golpe de estado: O Sr. D. Carlos, um belo dia, farto de atirar às perdizes, alveja à queima-roupa o código político da nação. Com que fim? Salvar-nos, salvar a pátria. Era a vida da pátria, que, em risco iminente, o constrangia à ditadura. Espezinhava os códigos, para manter a nacionalidade, sacrificando (com que mágoa!) o juramento do rei à existência do reino. Ato solene, ato grandioso. Doravante quatro milhões de espíritos do seu espírito viveriam. Escultor dum povo, cinzelador duma raça, ia fazer história, fazer humanidade. Como Deus, trabalhava em almas.
Um rei idealista, que em tal momento, no fogo divino duma obra de arte, — quadro ou estátua, música ou poema, — quisera sublimarse, escolheria naturalmente uma obra elevada, de essência religiosa, de feitio heroico. Guilherme, o visionário, escutaria o Lohengrin. Carlos, o gordo, foi ao Brasileiro Pancrácio. Os jornais o disseram. Textual: ao Pancrácio. Perfeito, simbólico.
Regresso da expedição à Guiné: Vai um bando de homens, filhos da miséria, a terras inóspitas e distantes jogar a vida pela pátria. Chegam, cumprido o dever, exaustos e dizimados. Quem lhes sai ao encontro? O rei? O rei, àquela hora, ou andava às lebres ou palitava os dentes. Galardoou-os com meia dúzia de crachás. Eram poucos. Muito bem: que os rifassem. E rifaram-nos!
Pândega a Paris: Vinte e quatro dias no cérebro do mundo. Que trouxe de lá sua majestade? Recibos e gravatas.
Viagem à Inglaterra: Quando em 30 de Janeiro de 1891 compunha eu este verso, — A desonra, a abjeção, o trono... e a Jarreteira —, envolvia a Jarreteira, em último lugar, a máxima ignomínia. Tão grande, que parecia hiperbólica. Vaticinei, adivinhei. Ei-la, a insígnia infamante, na perna esquerda do Sr. D. Carlos. Na outra, já a rainha Vitória, no dia 11 de Janeiro, lhe havia soldado uma grilheta.
Viagem à Alemanha: Dias antes do roubo de Keonga houve baile no Paço. Na quadrilha real, em frente da Sra. D. Amélia, quem? O ministro alemão. Não bastava. Deveria D. Carlos envergar, de joelhos, uma libré prussiana. E foi envergá-la. Contam os jornais que lha improvisaram numa noite, em doze horas. Escudeiro novo de senhor tão grande, queria logo vesti-la.
O enterro de João de Deus: Reinou alguns anos o Sr. D. Carlos, sem se lembrar um minuto de que João de Deus existia. Compreende-se. Da Heresta a uma ferra a distância é larga. Sobrevém, — justiça imanente! — a apoteose nacional do grande lírico. A alma da pátria, num vago desejo de renascer, contrapunha a soberania do espírito à soberania da carne; a pureza, vestida de beleza, à traficância, vestida de impudor; a idealidade mística dum gênio ao crasso materialismo visceral da imunda récua dos governantes. E eis logo o Sr. D. Carlos a admirar o poeta e a visitá-lo em sua casa, deitando-lhe à garganta, a ver se o prende, uma coleira qualquer de S. Tiago. O intuito evidenciava-se: erigir a glória de João de Deus em para-raios da monarquia. Mas a homenagem, tardiamente hipócrita, não iludiu o senso íntimo da juventude, radiosa origem espontânea daquela consagração de amor e de verdade. Na festa de D. Maria gelou-se à volta de D. Carlos um silêncio de morte. Nem um viva. Aclamava um povo o seu maior gênio, a suprema flor da idealidade duma raça, e o chefe desse povo era afastado, como um intruso, que ninguém convidara, que ninguém ali conhecia.
Volvido um ano morre João de Deus. As Necessidades e o Terreiro do Paço afetam, decorativamente, pungidoras mágoas. O Sr. Hintze, lúgubre e solene, banhado em pranto, de joelhos, rouqueja trêmulo, fitando o cadáver, esta despedida angustiosa: Adeus, Mestre! Como se o João de Deus houvera sido alfaiate, barbeiro ou sapateiro, únicas mestranças que a estética do Sr. Hintze poderia aquilatar devidamente.
Quarenta mil homens, a pé, seguiram o féretro. Na cauda, em três coches, três paquidermes do ministério, espapaçados e sonolentos, a ruminar asneiras.
E o Sr. D. Carlos, que os meus olhos buscaram, em vão, ansiosamente, durante quatro horas, onde é que estava, onde estaria ele? Duas gazetas o disseram no mesmo dia, em telegrama idêntico, de Mafra. Ei-lo: Mafra, 15, às 8 da noite. O Sr. D. Carlos retirou hoje às 5 e meia da tarde; o resultado da caçada foi: 10 galinholas, 5 gamos e 15 coelhos. Por alma do sublime poeta do amor e das estrelas, das florinhas e das aves, dos anjos e das crianças, rezou o Sr. D. Carlos, inconsolavelmente, uns trinta tiros de espingarda. Dez PadreNossos na grelha, cinco Ave-Marias de escabeche e quinze SalveRainhas, à Colete Encarnado, em molho de vilão.
A cultura intelectual de sua majestade: Transcrevo, duma publicação comemorativa do centenário Henriquino, este famoso documento do Sr. D. Carlos. É um autógrafo. Diz assim:
"Para celebrar a imorredoura memória, do Infante D. Henrique, nada encontro melhor, do que, transcrever, a estância de Camões, que serve de epígrafe à excelente e benemérita, tradução, do notável livro de Major".
Leram? Que indigência de frase e que pontuação! Um estudantinho imberbe não escreveria aquilo.
E eis aí, a ligeiros traços, a vera efígie de sua majestade o Sr. D. Carlos. Quem a olhar, exclamará por força: Viva a República! Nesta agudíssima crise nacional a república é mais do que uma simples forma de governo. É o último esforço, a última energia, que uma nação moribunda opõe à morte. Viva a República! é hoje sinônimo de — Viva Portugal!
E julgam, os idiotas, salvar o rei! Por que forma? Já o disse: tornando o país um cemitério de almas. Dinastias agonizantes querem vassalos defuntos. Entre quatro milhões de cadáveres um ventre com duas pernas, dois braços, uma abóbora nos ombros e uma espada na mão, a distância, movendo-se, ilude ainda: parece gente. Rodeiam-no baionetas, cavaleiros o guardam. Contra quem? contra os mortos. Invencível então, não é verdade? Perdido, inteiramente perdido. Se os mortos ressurgem, ele evapora-se. Se tudo é findo, se os Lázaros se não levantam, quando chegarem os corvos, principiarão por ele o seu banquete. Ou devorado pela nação, ou devorado pelo estrangeiro. A nação acorda? É o exílio. Submete-se? É que está morta, e, das nações que morrem, as nações vivas se alimentam.
Mas, por enquanto, folga. O dia de hoje pertence-lhe. O estado é o rei. Cidadão há um único: D. Carlos. Os deveres são nossos, os direitos, dele. É dele o meu pensamento, é dele a minha bolsa, é dele a minha vida. Estrangula-me as ideias, arromba-me a gaveta, ou corta-me o pescoço, conforme queira. A justiça é um relógio que ele atrasa, adianta ou faz parar, segundo lhe dá na vontade. Decreta a Lei e nomeia o Juiz. O parlamento é o seu capricho. Entre uma tourada e uma ferra, escreve ordenações com uma navalha. O país é D. Carlos. Seja. E quem é D. Carlos? Aí vai um retrato que é um libelo:
Torre do Outão. Esta primeira fantasia régia de sua majestade importou em duzentos contos de réis, ou mais, subtraídos ao tesouro. Juridicamente, um crime. Artisticamente, uma indecência.
Exéquias de D. Luís, mandadas celebrar pelo município de Lisboa, capital do reino: Sua majestade, apesar de convidado, não quis assistir. Foise aos coelhos para o Alfeite. Se vagueiam no ar as almas dos que morrem, a de D. Luís I, nesse dia, chumbou-a porventura, ao levantar da hóstia nas exéquias, a filial escopeta do Sr. D. Carlos.
Ultimatum inglês: Roubados e insultados. O país protesta, num vigoroso movimento de indignação e de cólera. Uma criatura houve que ficou impassível: o rei. Não teve aquela mão um gesto de furor, não encontrou aquela boca uma palavra de altivez. No dia seguinte, em carro descoberto, charuto a arder, expunha D. Carlos, na Avenida, aos transeuntes atônitos, a inconsciência lorpa da sua figura habitual.
Convênio inglês: O art. 75º da constituição do reino diz o seguinte: O rei é o chefe do poder executivo e o exercita pelos seus ministros de Estado. São suas principais atribuições: § 8º Fazer tratados. Bem. De duas, uma: ou o rei conhecia o convênio que o Sr. Barjona negociava em Londres, ou não o conhecia. Naquela hipótese, todas as injúrias, todos os doestos, toda a lama aviltante, que a nação, às mãos ambas, arremessou ao convênio, caem, de chofre, em sua majestade. Se era alheio ao convênio, alheio e indiferente a um ato nacional, de vida ou de morte para a honra da pátria, então ou sua majestade é um miserável ou sua majestade é um irresponsável. Daqui não há fugir.
Chegam a Lisboa as bases do convênio. O Sr. D. Carlos em 21 de agosto de 1890, ao procurar nos jornais o anúncio dos teatros, viu-as naturalmente, viu-as decerto. Ignorância, agora, não a pode alegar. Conhecia o crime. Que fez? Abram as Novidades de 22 de agosto. No artigo editorial, violentíssimo, há estes períodos:
"Na história da nossa decadência, levantou-se um novo e ruinoso padrão. O tratado do Sr. Hintze Ribeiro segue-se nesta série lamentosa ao tratado de Metwen, e deixa-o no escuro.
Em nossa honra e consciência, diremos alto e bom som: o tratado firmado em nome de Portugal com a Inglaterra é um padrão de imperecível ignomínia, e o dia, em que o seu texto completo for publicado no Diário do Governo, deverá ser considerado por todos os cidadãos amantes do seu país como um verdadeiro dia de luto nacional."
E mais adiante, na 3ª coluna, sob o título — As festas em Sintra, o Rali paper, o Baile, — escreve ainda o mesmo jornal:
"Conforme estava anunciado, realizou-se ontem em Sintra, nos terrenos da Granja do Marquês, o Rali paper. Perto das 3 horas chegaram el-rei e a rainha num landeau à Daumont, acompanhados pela Sra. D. Josefa Sandoval, veador Antônio de Vasconcelos e oficial às ordens A. de Serpa."
Segue uma comprida nomenclatura de altos senhores e nobilíssimas damas, que, em volta do rei, tomaram parte na função.
E conclui a notícia de 1890.
Hip, hip, hurrah! God save te King! Viva Salisburi! Viva D. Carlos! Que imundície!
Sua majestade, ainda à última hora, doente, no castelo da Pena, queria a recomposição do gabinete Serpa, isto é, mantinha o convênio. Foi o Sr. João Crisóstomo quem determinou a queda do governo, afirmando ao rei que, se ele insistisse, a revolução era inevitável.
Sintetizando: O tratado de 20 de agosto, no juízo da imensa maioria do país, quase a unanimidade, significava a última das afrontas, a última das vergonhas. Pois o Sr. D. Carlos deixou-o negociar, no dia que ele chegou a Lisboa celebrou uma festa, sustentou-o meses contra a vontade clara da nação, largando-o apenas, humilhado, diante das baionetas e da revolta.
O país, rasgando-o, rasgou-lho na cara.
Revolta do Porto: O Verbo era de luz. Encarnou mal. Daí o desastre. A lava purpúrea, não abrindo cratera, rompeu, angustiosa, por uma fenda. Colem o ouvido na montanha: há trovões lá dentro. Um dia destes será vulcão. Adiante...
O município do Porto, em 12 de fevereiro de 91, dirigiu ao rei uma mensagem. Copio dela estas frases:
"Não basta repelir e condenar os fatos, é mister, mais que tudo, inquirir das causas que os tornam possíveis e mesmo fáceis. E a consciência nacional, interrogada, responde sem hesitar que erros de muitos anos; abusivas tolerâncias em toda a espécie de deveres sociais e públicos; quebras frequentes de disciplina, tanto na classe militar como em toda a ordem de serviços públicos; relaxação no cumprimento das obrigações de cada um; irresponsabilidade frequente para faltas de toda a ordem; deploráveis complacências acobertadas com o que abusivamente se chama a doçura dos nossos costumes, tais parecem as causas gerais que permitiram e facilitaram tão deploráveis acontecimentos. E a câmara municipal do Porto, neste momento intérprete dos sentimentos da cidade, entende que faltaria ao seu dever, se não chamasse a atenção de Vossa Majestade sobre estes males, que é dever de todos os cidadãos, desde a mais elevada jerarquia à mais humilde condição, combater e destruir a todo o custo, se quisermos salvar a nossa pátria do inevitável naufrágio das nações que chegam a semelhante estado.".
(Extrato da representação da Câmara do Porto ao Rei, em 12 de fevereiro de 91.)
Eis agora o extrato da resposta do Sr. D. Carlos:
"O sustentamento da justiça e a rigorosa aplicação das leis são o fundamento moral de toda a sociedade bem organizada; a pública administração tem de ser necessariamente econômica e modesta; a política precisa de se mostrar, agora e sempre, evidentemente elevada e respeitável nos seus intentos e nos seus caracteres dominantes. Estes salutares princípios que a digna vereação municipal do Porto me relembra na sua mensagem, professo-os eu como verdades fundamentais, e tenho-os para normas inquebrantáveis da minha magistratura constitucional. Diz-me a consciência que lhes tenho sido fiel; e se ainda não pude mostrar toda a minha profunda dedicação pela nossa pátria, tem sido isso devido ao pouco tempo da minha vida de rei, desgraçadamente assombrada por acontecimentos de que me não cabe a responsabilidade, mas de que sinto, como os que muito a sentem, a triste e dolorosa significação."
Que quer isto exprimir? Que a câmara do Porto, com o aplauso de D. Carlos, justificou a revolta de 31 de janeiro. Embora lhe desaprovassem a forma, justificavam-lhe a essência. Mas a braveza dum ato, quando a razão o determina, desculpa-se bem. Há um julgador que diz a um réu: "A lei condena-te, mas a verdade absolve-te." Que faz esse juiz, quando ele é um rei? Perdoa.
Volveram anos. Os grandes criminosos, a que se referia a mensagem do município do Porto, onde é que estão? Nas mais altas dignidades, rodeando o trono.
E o tenente Coelho, meu senhor? onde é que está ele? Apodrecendo em África.
Viagem do Sr. D. Carlos ao Porto, depois do 31 de janeiro: Mais dum ano decorrera, antes de sua majestade se abalançar à viagem. Serenados os ânimos, mete-se a caminho. Os estudantes, em Coimbra, assobiam-no. Chega ao Porto. Desfila o cortejo. Ao lado do carro de sua majestade seguia um chefe de esquadra, a pé, durindana ao vento. Entala-se-lhe o gládio numa das rodas, partindo-se em bocados. O monarca desembainha, veloz, a sua espada de comandante em chefe, e bizarramente lha entrega com donairosa cortesia. Lá está na esquadra.
Baile do ministro inglês, em Sintra: No verão de 1892 dava o ministro inglês uma festa pomposa em honra do Sr. D. Carlos. Sua majestade aceitou-o. O ministro inglês, naquele instante, era a Inglaterra. O soberano de Portugal era a nação portuguesa. Pois o rosto que levara a bofetada sangrenta ia ver-se aos espelhos do animalejo que lha dera! Ia limpar os escarros ao guardanapo de quem lhos atirou!
Um rei que a fatalidade inexorável, que o destino impiedoso submetesse, algemado, a semelhante vergonha, choraria de raiva lágrimas de sangue, a não guardar no íntimo da alma, como D. Carlos, o retrato de D. João VI, num pataco falso. Desejaria eu ver, em lance de tal ordem, a grande e melancólica figura de D. Pedro V. Que trágica altivez e que dorida nobreza não exprimiria o seu olhar! E D. Carlos? D. Carlos, em toda aquela noite pavorosa, jogou descuidadamente o bleuf, espécie de batota, com dois casquilhos elegantes do mundanismo que se diverte. Verifiquem, lendo o Jornal do Comércio, que relatou o baile. Acrescento mais: quem o relatou assistiu a ele.
Dissolução das cortes. Primeiro golpe de estado: O Sr. D. Carlos, um belo dia, farto de atirar às perdizes, alveja à queima-roupa o código político da nação. Com que fim? Salvar-nos, salvar a pátria. Era a vida da pátria, que, em risco iminente, o constrangia à ditadura. Espezinhava os códigos, para manter a nacionalidade, sacrificando (com que mágoa!) o juramento do rei à existência do reino. Ato solene, ato grandioso. Doravante quatro milhões de espíritos do seu espírito viveriam. Escultor dum povo, cinzelador duma raça, ia fazer história, fazer humanidade. Como Deus, trabalhava em almas.
Um rei idealista, que em tal momento, no fogo divino duma obra de arte, — quadro ou estátua, música ou poema, — quisera sublimarse, escolheria naturalmente uma obra elevada, de essência religiosa, de feitio heroico. Guilherme, o visionário, escutaria o Lohengrin. Carlos, o gordo, foi ao Brasileiro Pancrácio. Os jornais o disseram. Textual: ao Pancrácio. Perfeito, simbólico.
Regresso da expedição à Guiné: Vai um bando de homens, filhos da miséria, a terras inóspitas e distantes jogar a vida pela pátria. Chegam, cumprido o dever, exaustos e dizimados. Quem lhes sai ao encontro? O rei? O rei, àquela hora, ou andava às lebres ou palitava os dentes. Galardoou-os com meia dúzia de crachás. Eram poucos. Muito bem: que os rifassem. E rifaram-nos!
Pândega a Paris: Vinte e quatro dias no cérebro do mundo. Que trouxe de lá sua majestade? Recibos e gravatas.
Viagem à Inglaterra: Quando em 30 de Janeiro de 1891 compunha eu este verso, — A desonra, a abjeção, o trono... e a Jarreteira —, envolvia a Jarreteira, em último lugar, a máxima ignomínia. Tão grande, que parecia hiperbólica. Vaticinei, adivinhei. Ei-la, a insígnia infamante, na perna esquerda do Sr. D. Carlos. Na outra, já a rainha Vitória, no dia 11 de Janeiro, lhe havia soldado uma grilheta.
Viagem à Alemanha: Dias antes do roubo de Keonga houve baile no Paço. Na quadrilha real, em frente da Sra. D. Amélia, quem? O ministro alemão. Não bastava. Deveria D. Carlos envergar, de joelhos, uma libré prussiana. E foi envergá-la. Contam os jornais que lha improvisaram numa noite, em doze horas. Escudeiro novo de senhor tão grande, queria logo vesti-la.
O enterro de João de Deus: Reinou alguns anos o Sr. D. Carlos, sem se lembrar um minuto de que João de Deus existia. Compreende-se. Da Heresta a uma ferra a distância é larga. Sobrevém, — justiça imanente! — a apoteose nacional do grande lírico. A alma da pátria, num vago desejo de renascer, contrapunha a soberania do espírito à soberania da carne; a pureza, vestida de beleza, à traficância, vestida de impudor; a idealidade mística dum gênio ao crasso materialismo visceral da imunda récua dos governantes. E eis logo o Sr. D. Carlos a admirar o poeta e a visitá-lo em sua casa, deitando-lhe à garganta, a ver se o prende, uma coleira qualquer de S. Tiago. O intuito evidenciava-se: erigir a glória de João de Deus em para-raios da monarquia. Mas a homenagem, tardiamente hipócrita, não iludiu o senso íntimo da juventude, radiosa origem espontânea daquela consagração de amor e de verdade. Na festa de D. Maria gelou-se à volta de D. Carlos um silêncio de morte. Nem um viva. Aclamava um povo o seu maior gênio, a suprema flor da idealidade duma raça, e o chefe desse povo era afastado, como um intruso, que ninguém convidara, que ninguém ali conhecia.
Volvido um ano morre João de Deus. As Necessidades e o Terreiro do Paço afetam, decorativamente, pungidoras mágoas. O Sr. Hintze, lúgubre e solene, banhado em pranto, de joelhos, rouqueja trêmulo, fitando o cadáver, esta despedida angustiosa: Adeus, Mestre! Como se o João de Deus houvera sido alfaiate, barbeiro ou sapateiro, únicas mestranças que a estética do Sr. Hintze poderia aquilatar devidamente.
Quarenta mil homens, a pé, seguiram o féretro. Na cauda, em três coches, três paquidermes do ministério, espapaçados e sonolentos, a ruminar asneiras.
E o Sr. D. Carlos, que os meus olhos buscaram, em vão, ansiosamente, durante quatro horas, onde é que estava, onde estaria ele? Duas gazetas o disseram no mesmo dia, em telegrama idêntico, de Mafra. Ei-lo: Mafra, 15, às 8 da noite. O Sr. D. Carlos retirou hoje às 5 e meia da tarde; o resultado da caçada foi: 10 galinholas, 5 gamos e 15 coelhos. Por alma do sublime poeta do amor e das estrelas, das florinhas e das aves, dos anjos e das crianças, rezou o Sr. D. Carlos, inconsolavelmente, uns trinta tiros de espingarda. Dez PadreNossos na grelha, cinco Ave-Marias de escabeche e quinze SalveRainhas, à Colete Encarnado, em molho de vilão.
A cultura intelectual de sua majestade: Transcrevo, duma publicação comemorativa do centenário Henriquino, este famoso documento do Sr. D. Carlos. É um autógrafo. Diz assim:
"Para celebrar a imorredoura memória, do Infante D. Henrique, nada encontro melhor, do que, transcrever, a estância de Camões, que serve de epígrafe à excelente e benemérita, tradução, do notável livro de Major".
Leram? Que indigência de frase e que pontuação! Um estudantinho imberbe não escreveria aquilo.
E eis aí, a ligeiros traços, a vera efígie de sua majestade o Sr. D. Carlos. Quem a olhar, exclamará por força: Viva a República! Nesta agudíssima crise nacional a república é mais do que uma simples forma de governo. É o último esforço, a última energia, que uma nação moribunda opõe à morte. Viva a República! é hoje sinônimo de — Viva Portugal!
Guerra Junqueiro
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















