REFUGIO / Harlan Coben
REFUGIO / Harlan Coben
.
.
.
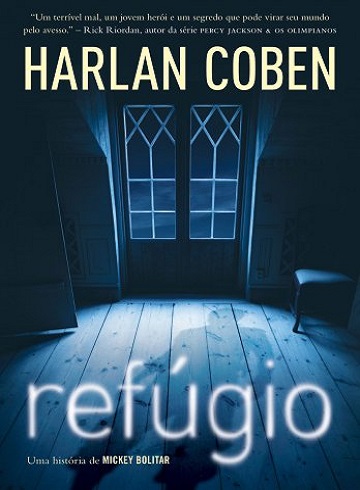
.
.
.
OK, isso foi bizarro. Fiquei parado em frente à casa da dona Morcega e esperei que ela tornasse a aparecer. Nada. Andei até a porta e procurei uma campainha. Não havia nenhuma, então comecei a socá-la. Bati tão forte que a porta sacudiu. A madeira era tão áspera que arranhou os nós dos meus dedos. Lascas de tinta caíam como se a porta tivesse um caso grave de caspa. Mas dona Morcega não veio. E agora, o que fazer? Eu poderia derrubar a porta com um chute... mas, e depois? Ir atrás de uma senhora com um vestido estranho e exigir que ela explicasse as doideiras que dizia? Talvez ela estivesse no segundo andar da casa se preparando para mais um dia de maluquices: tirando o vestido branco, entrando no banho... Eca! Eu precisava ir. Não queria perder a hora. O primeiro professor do dia, o Sr. Hill, era obcecado por pontualidade. Além disso, eu ainda tinha esperanças de que Ashley fosse à aula naquele dia. Ela havia desaparecido sem o menor aviso. Talvez pudesse reaparecer da mesma forma. Tinha conhecido Ashley três semanas antes, na escola, no programa de orientação tanto para alunos novos (como Ashley e eu) como para os que estavam começando o ensino médio – nesse último grupo todos já se conheciam, porque tinham estudado juntos no ensino fundamental. Pelo jeito, ninguém nunca saía daquela cidade. O tal programa de orientação deveria consistir em ver uma apresentação das matérias que você iria estudar, fazer um tour pela escola e, talvez, conhecer alguns futuros colegas de turma. Mas não, isso não foi suficiente. Tivemos que participar de todas aquelas dinâmicas de grupo imbecis, degradantes e totalmente constrangedoras. A primeira delas envolvia um “teste de confiança”. A Sra. Owens – uma professora de educação física com um sorriso que parecia ter sido pintado por um palhaço bêbado – começou tentando nos animar: – Bom dia, pessoal! Alguns grunhidos. Então (odeio quando os adultos fazem isso) ela gritou: – Sei que vocês estão mais empolgados do que isso. Vamos tentar outra vez: bom dia, pessoal! Os alunos gritaram “Bom dia!” mais alto dessa vez, não por estarem empolgados, mas porque queriam que ela parasse. Fomos divididos em grupos de seis, sendo que o meu contava com três alunos do primeiro ano e dois do terceiro ano que tinham acabado de se mudar para a cidade. – Um de vocês vai subir neste pedestal aqui e colocar uma venda! –exclamou a Sra. Owens. Tudo o que ela dizia terminava com um ponto de exclamação. – Agora cruzem os braços e finjam que o pedestal está em chamas! Oh, não! A Sra. Owens colocou as mãos nas bochechas como aquele menino de Esqueceram de mim. – Está tão quente que vocês vão ter que se jogar para trás! Alguém ergueu a mão: – Por que a gente ficaria de braços cruzados se o pedestal estivesse pegando fogo? Burburinho de aprovação. O sorriso pintado da Sra. Owens continuou o mesmo, mas acho que notei seu olho direito tremer um pouco. – Seus braços estão amarrados! – Estão? Não estão, não. – Finjam que sim! – Mas, se é pra fingir, pra que a venda? Não dá pra gente simplesmente fingir que não está vendo? – Ou fechar os olhos? A Sra. Owens se esforçou para manter o controle. – O fogo está deixando o pedestal tão quente que vocês precisam se jogar para trás de cima dele. – Para trás? – Não seria mais natural a gente pular, Sra. Owens? – É verdade. Por que a gente se jogaria para trás? Tipo, se está tão quente assim... A Sra. Owens perdeu a paciência. – Porque eu estou mandando! Vocês vão se jogar para trás! O restante do grupo vai segurar vocês! Então vão se revezar até que todo mundo tenha se jogado para trás de cima do pedestal! Foi o que todos nós fizemos, embora alguns tenham hesitado. Eu meço 1,93m e peso 90 quilos. Minha equipe se encolheu quando olhou para mim. Outra garota do grupo, uma menina do primeiro ano vestida de preto dos pés à cabeça, era um pouco gorda. Sei que deveria chamá-la de outra coisa, algo politicamente correto, mas tudo em que consigo pensar soa paternalista. Grande? Fofinha? Obesa? Digo isso sem fazer qualquer julgamento, da mesma forma que diria pequeno, ossudo, magricela. Enfim, a garota hesitou um pouco antes de subir no pedestal. Alguém do grupo soltou uma gargalhada. Depois outra pessoa fez o mesmo. Além de mostrar àquela garota como a crueldade continuava existindo mesmo depois que você entrava para o ensino médio, não sei como aquele exercício poderia ajudar alguém. Quando ela não se jogou para trás de imediato, um dos caras do primeiro ano deu uma risadinha e falou: – Vamos, Ema. A gente segura você. A voz não lhe deu confiança. Ela puxou a venda e olhou para nós. Nossos olhares se cruzaram e eu fiz que sim com a cabeça. Finalmente, ela se deixou cair. Nós a apanhamos (alguns acrescentando grunhidos dramáticos), mas Ema não pareceu nem um pouco mais confiante. Mais tarde jogamos uma partida idiota de paintball em que duas pessoas se machucaram e depois partimos para um exercício chamado (quem me dera estar de brincadeira) “creme de amendoim envenenado”. Nessa atividade você precisava atravessar um caminho de 10 metros de creme de amendoim envenenado, mas, como explicou a Sra. Owens: – Somente dois membros de cada grupo podem usar o sapato antiveneno para atravessar! Resumindo, você precisava carregar seus companheiros nas costas. As garotas menores soltavam risadinhas enquanto eram carregadas. Havia ali um fotógrafo do jornal Star-Ledger, clicando à vontade. O repórter fazia perguntas à Sra. Owens, que estava radiante e dava respostas cheias de expressões como “criar vínculos”, “dar boas-vindas” e “confiar no próximo”. Eu não conseguia imaginar que tipo de matéria alguém poderia escrever com uma coisa dessas, mas talvez eles estivessem desesperados atrás de uma pauta de “interesse humano”. Eu estava parado com Ema no fim da fila para cruzar o caminho de creme de amendoim envenenado. A maquiagem preta escorria pelo seu rosto junto com o que talvez fossem lágrimas silenciosas. Eu me perguntei se o fotógrafo clicaria aquilo. Quando foi chegando a hora de Ema ser carregada, pude sentir que ela começava a tremer de medo. Pense bem: é o seu primeiro dia de aula e você é uma garota que pesa quase 100 quilos. Então é forçada a vestir um short de ginástica e participar de uma atividade em grupo sem sentido. Nela, seus novos colegas de classe, bem mais magros do que você, precisam carregá-la por 10 metros como se fosse um barril de cerveja, enquanto você só quer se encolher em um canto e morrer. Quem acharia que isso é uma boa ideia? A Sra. Owens se aproximou da nossa equipe. – Preparada, Emily?! Era Ema ou Emily? Eu já não sabia. Ela ficou calada. – Coragem, garota. Atravesse esse creme de amendoim envenenado! Você consegue! – Sra. Owens? – chamei. Ela olhou para mim. O sorriso continuou inalterado, mas seus olhos se estreitaram um pouco. – Você é o...? – Meu nome é Mickey Bolitar. Sou do segundo ano e venho de outra escola. Se a senhora não se importar, não vou participar desta atividade. O olho direito da Sra. Owens tornou a tremer. – Como? – É que não estou a fim de ser carregado. Os outros garotos me olharam como se estivesse brotando um braço na minha testa. – Sr. Bolitar, você é novo aqui. O ponto de exclamação tinha desaparecido da voz da Sra. Owens. – Creio que seria bom participar. – É obrigatório? – perguntei. – Como? – É obrigatório que eu participe desta atividade em especial? – Bem, não, não é obriga... – Então não vou participar – falei, olhando em seguida para Ema/Emily. – Você me faria companhia? Então nos afastamos. Dava para ouvir o mundo cair em silêncio atrás de mim. Em seguida a Sra. Owens soprou um apito, interrompendo a atividade e chamando o grupo para o almoço. Depois de nos afastarmos mais alguns metros, ela disse: – Uau. – O quê? Ela me fitou bem dentro dos olhos. – Você salvou a gorda. Aposto que está muito orgulhoso. Então balançou a cabeça e foi embora. Eu olhei para trás. A Sra. Owens nos observava. Continuava com o mesmo sorriso, mas a expressão em seus olhos deixava claro que eu tinha conseguido fazer uma inimiga no meu primeiro dia. O sol me castigava. Eu deixei. Fechei os olhos por alguns instantes. Pensei na minha mãe, que logo voltaria para casa da clínica de reabilitação. Pensei no meu pai, que estava morto e enterrado. Me senti muito sozinho. O refeitório da escola estava fechado – o período letivo ainda demoraria semanas para começar –, de modo que precisávamos trazer nosso próprio lanche. Comprei um sanduíche de frango com molho picante e me sentei na grama em uma colina que dava para o campo de futebol americano. Estava prestes a dar a primeira mordida quando a vi. Ela não era o meu tipo, embora eu não tenha exatamente um. Passei a vida inteira viajando pelo mundo. Meus pais trabalhavam para uma instituição beneficente em lugares como Laos, Peru e Serra Leoa. Não tenho irmãos. Todas essas viagens eram empolgantes e divertidas quando eu era criança, mas foram ficando cansativas e difíceis à medida que eu crescia. Eu queria ficar em um lugar só. Queria ter amigos, jogar em um time de basquete e, bem, conhecer garotas e fazer coisas de adolescente. É meio complicado conseguir isso quando se está fazendo mochilão pelo Nepal. Aquela garota era bonita, sem dúvida, mas também era arrumada, bem-vestida demais e patricinha. Havia algo de esnobe nela, mas eu não conseguia identificar o quê. Seu cabelo era louro como o de uma boneca de porcelana. Ela usava saia (uma de verdade, não daquelas micro) e o que talvez fossem meias soquetes. Resumindo, parecia ter acabado de sair do catálogo da loja de roupas mais tradicional do país. Dei uma mordida no meu sanduíche e então notei que ela não tinha nada para comer. Talvez estivesse fazendo dieta, mas, por algum motivo, achei que não era o caso. Não sei por que, mas decidi me aproximar dela. Não que estivesse no clima de conversar com alguém ou conhecer quem quer que fosse. Ainda estava tentando me acostumar às pessoas que tinham entrado na minha vida há tão pouco tempo e realmente não queria acrescentar mais ninguém à lista. Talvez tenha sido apenas por ela ser tão bonita. Talvez eu fosse tão superficial quanto qualquer um. Ou talvez porque às vezes um solitário sabe detectar outro. Talvez eu tenha sido atraído pelo fato de ela, assim como eu, aparentemente querer ficar na sua. Eu me aproximei sem muita convicção. Quando estava perto o suficiente, meio que acenei e disse: – Oi. Sempre começo com algo supersedutor desse tipo. Ela ergueu os olhos verdes como esmeraldas para mim, enquanto fazia sombra neles com uma das mãos. – Oi. Sim, senhor, muito bonita. Eu fiquei parado ali, constrangido. Meu rosto ficou vermelho. De repente minhas mãos pareciam grandes demais para o meu corpo. A segunda coisa que falei para ela foi: – Meu nome é Mickey. Caramba, eu sou ou não sou irresistível? Uma cantada matadora atrás da outra. – Eu sou Ashley Kent. – Legal – falei. – É. Em algum lugar deste mundo, na China, na Índia ou nos confins da África, devia haver alguém mais otário do que eu. Mas eu duvidava. Apontei para seu colo vazio. – Você não trouxe lanche? – Não, esqueci. – Este sanduíche aqui é enorme – falei. – Quer dividir? – Ah, obrigada, mas não precisa. Mas eu insisti e acabei sendo convidado a me sentar com ela. Ashley também estava no segundo ano e também era nova na cidade. O pai, disse ela, era um cirurgião famoso. A mãe era advogada. Se a vida fosse um filme, essa seria aquela parte em que as cenas passam com música ao fundo. Alguma canção animada ficaria tocando enquanto Ashley e eu apareceríamos dividindo um lanche, conversando, rindo, parecendo tímidos, de mãos dadas e, para terminar, trocando um primeiro beijo inocente. Isso foi há três semanas. Eu cheguei à aula do Sr. Hill assim que o sinal tocou. Ele fez a chamada. O sinal tocou uma segunda vez e o primeiro tempo começou. A sala de Ashley era do outro lado do corredor. Eu esperei e vi que ela não tinha aparecido novamente. Eu disse que Ashley era minha namorada. Talvez tenha exagerado um pouco. Acho que estávamos nos conhecendo. Tínhamos nos beijado duas vezes, não mais que isso. Para ser franco, eu não gostava de mais ninguém na minha nova escola, só dela. Não era amor, mas também era muito cedo para saber. Por outro lado, sentimentos desse tipo costumam diminuir com o tempo. Essa é a verdade. Gostamos de fingir que eles aumentam à medida que vamos ganhando intimidade. Mas, na maioria das vezes, é o contrário. Nós, garotos, vemos uma menina maravilhosa e temos uma paixonite aguda, daquelas que nos deixam sem fôlego e tão ansiosos, tão desesperados, que sempre estragamos tudo. Mas, se por acaso conseguimos conquistá-la, o sentimento começa a diminuir quase na mesma hora. Só que, neste caso, meus sentimentos por Ashley ficaram mais fortes. O que era um pouco assustador, no bom sentido. Então, um belo dia, eu fui para a escola e Ashley tinha faltado. Liguei para o celular dela, mas ninguém atendeu. Ela também não foi no dia seguinte. E nem no outro. Eu não sabia bem o que fazer. Não tinha o endereço dela. Pesquisei o sobrenome Kent na internet, mas o número deles devia estar fora da lista telefônica. Na verdade, não havia absolutamente nada a seu respeito na rede. Ashley tinha simplesmente sumido do mapa.




Biblio VT




EU ESTAVA INDO A PÉ para a escola, morrendo de pena de mim mesmo (meu pai estava morto, minha mãe tinha sido internada numa clínica de reabilitação e minha namorada havia desaparecido), quando vi dona Morcega pela primeira vez. Já havia escutado os boatos, é claro. Dona Morcega supostamente morava sozinha naquela casa decrépita na esquina da Hobart Gap com a Pine. Você sabe qual. Eu estava parado diante dela agora. A pintura amarela estava descascada, caindo como os pelos de um cachorro velho. O concreto do caminho de entrada, que um dia havia sido sólido, estava rachado em pedacinhos minúsculos. O mato crescia alto no jardim malcuidado. Diziam que dona Morcega tinha 100 anos e só saía à noite. E mais: que se uma criança não estivesse em casa ao anoitecer depois de um encontro com os amigos ou do treino de beisebol – principalmente se tivesse sido doida o suficiente para cortar caminho pelo quintal de dona Morcega ou se houvesse arriscado a ir a pé, em vez de pegar uma carona – era porque tinha caído nas garras dela. Nunca ficou claro o que exatamente dona Morcega fazia. Havia anos que nenhuma criança desaparecia na cidade. Adolescentes, como minha namorada, Ashley, eram outra história: podiam estar ali um dia, segurando sua mão, olhando bem no fundo dos seus olhos, fazendo seu coração disparar, e sumir no dia seguinte. Mas crianças pequenas? Nem pensar. Elas estavam a salvo, até mesmo de dona Morcega. Então, quando eu estava prestes a atravessar a rua (até eu, um adolescente maduro do segundo ano do ensino médio que tinha acabado de chegar a uma escola nova, queria evitar aquela casa sinistra), a porta se abriu com um rangido. Eu congelei. Por um instante nada aconteceu. A porta já estava escancarada àquela altura, mas não havia ninguém. Fiquei parado, esperando. Talvez tenha piscado. Não sei direito. Mas, quando tornei a olhar, dona Morcega estava ali. Ela podia ter mesmo 100 anos. Ou talvez 200. Não entendi por que as pessoas a chamavam de dona Morcega. Ela não parecia um morcego. Seu cabelo grisalho ia até a cintura, como o de uma hippie, e balançava ao vento, tapando seu rosto. Usava um vestido branco meio rasgado que a deixava parecida com as noivas de filmes de terror antigos ou de clipes de bandas de heavy metal. Suas costas eram arqueadas como um ponto de interrogação. Dona Morcega ergueu lentamente a mão – tão pálida que não era branca, mas azulada como uma veia – e apontou um dedo trêmulo e ossudo para mim. Fiquei calado. Ela continuou apontando na minha direção até não restar dúvida de que eu a estivesse vendo. Quando viu que eu a olhava, seu rosto enrugado se abriu em um sorriso que fez um calafrio percorrer minha espinha. – Mickey? Não fazia ideia de como ela sabia meu nome. – Seu pai não morreu – falou. Suas palavras provocaram uma onda de choque que me fez recuar um passo. – Ele está muito vivo. Mas, parado ali, observando-a desaparecer em sua caverna decrépita, eu sabia que o que ela tinha dito não era verdade. Porque eu tinha visto meu pai morrer.
.
.
.
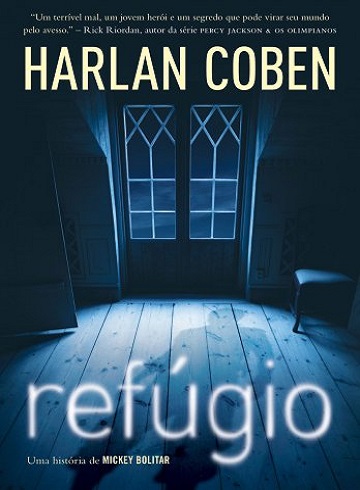
.
.
.
OK, isso foi bizarro. Fiquei parado em frente à casa da dona Morcega e esperei que ela tornasse a aparecer. Nada. Andei até a porta e procurei uma campainha. Não havia nenhuma, então comecei a socá-la. Bati tão forte que a porta sacudiu. A madeira era tão áspera que arranhou os nós dos meus dedos. Lascas de tinta caíam como se a porta tivesse um caso grave de caspa. Mas dona Morcega não veio. E agora, o que fazer? Eu poderia derrubar a porta com um chute... mas, e depois? Ir atrás de uma senhora com um vestido estranho e exigir que ela explicasse as doideiras que dizia? Talvez ela estivesse no segundo andar da casa se preparando para mais um dia de maluquices: tirando o vestido branco, entrando no banho... Eca! Eu precisava ir. Não queria perder a hora. O primeiro professor do dia, o Sr. Hill, era obcecado por pontualidade. Além disso, eu ainda tinha esperanças de que Ashley fosse à aula naquele dia. Ela havia desaparecido sem o menor aviso. Talvez pudesse reaparecer da mesma forma. Tinha conhecido Ashley três semanas antes, na escola, no programa de orientação tanto para alunos novos (como Ashley e eu) como para os que estavam começando o ensino médio – nesse último grupo todos já se conheciam, porque tinham estudado juntos no ensino fundamental. Pelo jeito, ninguém nunca saía daquela cidade. O tal programa de orientação deveria consistir em ver uma apresentação das matérias que você iria estudar, fazer um tour pela escola e, talvez, conhecer alguns futuros colegas de turma. Mas não, isso não foi suficiente. Tivemos que participar de todas aquelas dinâmicas de grupo imbecis, degradantes e totalmente constrangedoras. A primeira delas envolvia um “teste de confiança”. A Sra. Owens – uma professora de educação física com um sorriso que parecia ter sido pintado por um palhaço bêbado – começou tentando nos animar: – Bom dia, pessoal! Alguns grunhidos. Então (odeio quando os adultos fazem isso) ela gritou: – Sei que vocês estão mais empolgados do que isso. Vamos tentar outra vez: bom dia, pessoal! Os alunos gritaram “Bom dia!” mais alto dessa vez, não por estarem empolgados, mas porque queriam que ela parasse. Fomos divididos em grupos de seis, sendo que o meu contava com três alunos do primeiro ano e dois do terceiro ano que tinham acabado de se mudar para a cidade. – Um de vocês vai subir neste pedestal aqui e colocar uma venda! –exclamou a Sra. Owens. Tudo o que ela dizia terminava com um ponto de exclamação. – Agora cruzem os braços e finjam que o pedestal está em chamas! Oh, não! A Sra. Owens colocou as mãos nas bochechas como aquele menino de Esqueceram de mim. – Está tão quente que vocês vão ter que se jogar para trás! Alguém ergueu a mão: – Por que a gente ficaria de braços cruzados se o pedestal estivesse pegando fogo? Burburinho de aprovação. O sorriso pintado da Sra. Owens continuou o mesmo, mas acho que notei seu olho direito tremer um pouco. – Seus braços estão amarrados! – Estão? Não estão, não. – Finjam que sim! – Mas, se é pra fingir, pra que a venda? Não dá pra gente simplesmente fingir que não está vendo? – Ou fechar os olhos? A Sra. Owens se esforçou para manter o controle. – O fogo está deixando o pedestal tão quente que vocês precisam se jogar para trás de cima dele. – Para trás? – Não seria mais natural a gente pular, Sra. Owens? – É verdade. Por que a gente se jogaria para trás? Tipo, se está tão quente assim... A Sra. Owens perdeu a paciência. – Porque eu estou mandando! Vocês vão se jogar para trás! O restante do grupo vai segurar vocês! Então vão se revezar até que todo mundo tenha se jogado para trás de cima do pedestal! Foi o que todos nós fizemos, embora alguns tenham hesitado. Eu meço 1,93m e peso 90 quilos. Minha equipe se encolheu quando olhou para mim. Outra garota do grupo, uma menina do primeiro ano vestida de preto dos pés à cabeça, era um pouco gorda. Sei que deveria chamá-la de outra coisa, algo politicamente correto, mas tudo em que consigo pensar soa paternalista. Grande? Fofinha? Obesa? Digo isso sem fazer qualquer julgamento, da mesma forma que diria pequeno, ossudo, magricela. Enfim, a garota hesitou um pouco antes de subir no pedestal. Alguém do grupo soltou uma gargalhada. Depois outra pessoa fez o mesmo. Além de mostrar àquela garota como a crueldade continuava existindo mesmo depois que você entrava para o ensino médio, não sei como aquele exercício poderia ajudar alguém. Quando ela não se jogou para trás de imediato, um dos caras do primeiro ano deu uma risadinha e falou: – Vamos, Ema. A gente segura você. A voz não lhe deu confiança. Ela puxou a venda e olhou para nós. Nossos olhares se cruzaram e eu fiz que sim com a cabeça. Finalmente, ela se deixou cair. Nós a apanhamos (alguns acrescentando grunhidos dramáticos), mas Ema não pareceu nem um pouco mais confiante. Mais tarde jogamos uma partida idiota de paintball em que duas pessoas se machucaram e depois partimos para um exercício chamado (quem me dera estar de brincadeira) “creme de amendoim envenenado”. Nessa atividade você precisava atravessar um caminho de 10 metros de creme de amendoim envenenado, mas, como explicou a Sra. Owens: – Somente dois membros de cada grupo podem usar o sapato antiveneno para atravessar! Resumindo, você precisava carregar seus companheiros nas costas. As garotas menores soltavam risadinhas enquanto eram carregadas. Havia ali um fotógrafo do jornal Star-Ledger, clicando à vontade. O repórter fazia perguntas à Sra. Owens, que estava radiante e dava respostas cheias de expressões como “criar vínculos”, “dar boas-vindas” e “confiar no próximo”. Eu não conseguia imaginar que tipo de matéria alguém poderia escrever com uma coisa dessas, mas talvez eles estivessem desesperados atrás de uma pauta de “interesse humano”. Eu estava parado com Ema no fim da fila para cruzar o caminho de creme de amendoim envenenado. A maquiagem preta escorria pelo seu rosto junto com o que talvez fossem lágrimas silenciosas. Eu me perguntei se o fotógrafo clicaria aquilo. Quando foi chegando a hora de Ema ser carregada, pude sentir que ela começava a tremer de medo. Pense bem: é o seu primeiro dia de aula e você é uma garota que pesa quase 100 quilos. Então é forçada a vestir um short de ginástica e participar de uma atividade em grupo sem sentido. Nela, seus novos colegas de classe, bem mais magros do que você, precisam carregá-la por 10 metros como se fosse um barril de cerveja, enquanto você só quer se encolher em um canto e morrer. Quem acharia que isso é uma boa ideia? A Sra. Owens se aproximou da nossa equipe. – Preparada, Emily?! Era Ema ou Emily? Eu já não sabia. Ela ficou calada. – Coragem, garota. Atravesse esse creme de amendoim envenenado! Você consegue! – Sra. Owens? – chamei. Ela olhou para mim. O sorriso continuou inalterado, mas seus olhos se estreitaram um pouco. – Você é o...? – Meu nome é Mickey Bolitar. Sou do segundo ano e venho de outra escola. Se a senhora não se importar, não vou participar desta atividade. O olho direito da Sra. Owens tornou a tremer. – Como? – É que não estou a fim de ser carregado. Os outros garotos me olharam como se estivesse brotando um braço na minha testa. – Sr. Bolitar, você é novo aqui. O ponto de exclamação tinha desaparecido da voz da Sra. Owens. – Creio que seria bom participar. – É obrigatório? – perguntei. – Como? – É obrigatório que eu participe desta atividade em especial? – Bem, não, não é obriga... – Então não vou participar – falei, olhando em seguida para Ema/Emily. – Você me faria companhia? Então nos afastamos. Dava para ouvir o mundo cair em silêncio atrás de mim. Em seguida a Sra. Owens soprou um apito, interrompendo a atividade e chamando o grupo para o almoço. Depois de nos afastarmos mais alguns metros, ela disse: – Uau. – O quê? Ela me fitou bem dentro dos olhos. – Você salvou a gorda. Aposto que está muito orgulhoso. Então balançou a cabeça e foi embora. Eu olhei para trás. A Sra. Owens nos observava. Continuava com o mesmo sorriso, mas a expressão em seus olhos deixava claro que eu tinha conseguido fazer uma inimiga no meu primeiro dia. O sol me castigava. Eu deixei. Fechei os olhos por alguns instantes. Pensei na minha mãe, que logo voltaria para casa da clínica de reabilitação. Pensei no meu pai, que estava morto e enterrado. Me senti muito sozinho. O refeitório da escola estava fechado – o período letivo ainda demoraria semanas para começar –, de modo que precisávamos trazer nosso próprio lanche. Comprei um sanduíche de frango com molho picante e me sentei na grama em uma colina que dava para o campo de futebol americano. Estava prestes a dar a primeira mordida quando a vi. Ela não era o meu tipo, embora eu não tenha exatamente um. Passei a vida inteira viajando pelo mundo. Meus pais trabalhavam para uma instituição beneficente em lugares como Laos, Peru e Serra Leoa. Não tenho irmãos. Todas essas viagens eram empolgantes e divertidas quando eu era criança, mas foram ficando cansativas e difíceis à medida que eu crescia. Eu queria ficar em um lugar só. Queria ter amigos, jogar em um time de basquete e, bem, conhecer garotas e fazer coisas de adolescente. É meio complicado conseguir isso quando se está fazendo mochilão pelo Nepal. Aquela garota era bonita, sem dúvida, mas também era arrumada, bem-vestida demais e patricinha. Havia algo de esnobe nela, mas eu não conseguia identificar o quê. Seu cabelo era louro como o de uma boneca de porcelana. Ela usava saia (uma de verdade, não daquelas micro) e o que talvez fossem meias soquetes. Resumindo, parecia ter acabado de sair do catálogo da loja de roupas mais tradicional do país. Dei uma mordida no meu sanduíche e então notei que ela não tinha nada para comer. Talvez estivesse fazendo dieta, mas, por algum motivo, achei que não era o caso. Não sei por que, mas decidi me aproximar dela. Não que estivesse no clima de conversar com alguém ou conhecer quem quer que fosse. Ainda estava tentando me acostumar às pessoas que tinham entrado na minha vida há tão pouco tempo e realmente não queria acrescentar mais ninguém à lista. Talvez tenha sido apenas por ela ser tão bonita. Talvez eu fosse tão superficial quanto qualquer um. Ou talvez porque às vezes um solitário sabe detectar outro. Talvez eu tenha sido atraído pelo fato de ela, assim como eu, aparentemente querer ficar na sua. Eu me aproximei sem muita convicção. Quando estava perto o suficiente, meio que acenei e disse: – Oi. Sempre começo com algo supersedutor desse tipo. Ela ergueu os olhos verdes como esmeraldas para mim, enquanto fazia sombra neles com uma das mãos. – Oi. Sim, senhor, muito bonita. Eu fiquei parado ali, constrangido. Meu rosto ficou vermelho. De repente minhas mãos pareciam grandes demais para o meu corpo. A segunda coisa que falei para ela foi: – Meu nome é Mickey. Caramba, eu sou ou não sou irresistível? Uma cantada matadora atrás da outra. – Eu sou Ashley Kent. – Legal – falei. – É. Em algum lugar deste mundo, na China, na Índia ou nos confins da África, devia haver alguém mais otário do que eu. Mas eu duvidava. Apontei para seu colo vazio. – Você não trouxe lanche? – Não, esqueci. – Este sanduíche aqui é enorme – falei. – Quer dividir? – Ah, obrigada, mas não precisa. Mas eu insisti e acabei sendo convidado a me sentar com ela. Ashley também estava no segundo ano e também era nova na cidade. O pai, disse ela, era um cirurgião famoso. A mãe era advogada. Se a vida fosse um filme, essa seria aquela parte em que as cenas passam com música ao fundo. Alguma canção animada ficaria tocando enquanto Ashley e eu apareceríamos dividindo um lanche, conversando, rindo, parecendo tímidos, de mãos dadas e, para terminar, trocando um primeiro beijo inocente. Isso foi há três semanas. Eu cheguei à aula do Sr. Hill assim que o sinal tocou. Ele fez a chamada. O sinal tocou uma segunda vez e o primeiro tempo começou. A sala de Ashley era do outro lado do corredor. Eu esperei e vi que ela não tinha aparecido novamente. Eu disse que Ashley era minha namorada. Talvez tenha exagerado um pouco. Acho que estávamos nos conhecendo. Tínhamos nos beijado duas vezes, não mais que isso. Para ser franco, eu não gostava de mais ninguém na minha nova escola, só dela. Não era amor, mas também era muito cedo para saber. Por outro lado, sentimentos desse tipo costumam diminuir com o tempo. Essa é a verdade. Gostamos de fingir que eles aumentam à medida que vamos ganhando intimidade. Mas, na maioria das vezes, é o contrário. Nós, garotos, vemos uma menina maravilhosa e temos uma paixonite aguda, daquelas que nos deixam sem fôlego e tão ansiosos, tão desesperados, que sempre estragamos tudo. Mas, se por acaso conseguimos conquistá-la, o sentimento começa a diminuir quase na mesma hora. Só que, neste caso, meus sentimentos por Ashley ficaram mais fortes. O que era um pouco assustador, no bom sentido. Então, um belo dia, eu fui para a escola e Ashley tinha faltado. Liguei para o celular dela, mas ninguém atendeu. Ela também não foi no dia seguinte. E nem no outro. Eu não sabia bem o que fazer. Não tinha o endereço dela. Pesquisei o sobrenome Kent na internet, mas o número deles devia estar fora da lista telefônica. Na verdade, não havia absolutamente nada a seu respeito na rede. Ashley tinha simplesmente sumido do mapa.
Capítulo 2
TIVE UMA IDEIA DURANTE o terceiro tempo. Ashley e eu tínhamos apenas uma aula juntos – história, com a Sra. Friedman. Era minha professora favorita até o momento. Tinha um jeito teatral e entusiasmado. Naquele dia ela estava falando sobre como certas figuras históricas eram pessoas incrivelmente cultas e insistia em que nos tornássemos “homens e mulheres renascentistas”. Eu ainda não havia conversado com ela em particular, nem com nenhum dos professores fora da aula. Só ficava na minha. Era o meu jeito. Sei que recebia olhares, do tipo que qualquer “aluno novo” recebe. Um dia, um grupo de meninas estava dando risadinhas enquanto olhava na minha direção. Uma delas veio até mim e perguntou: – Será que você pode, tipo, me dar seu telefone? Confuso, eu lhe dei meu número. Cinco minutos depois ouvi mais risadinhas e meu celular vibrou. O torpedo dizia: minha amiga acha você uma gracinha. Não respondi. Depois da aula, fui falar com a Sra. Friedman. – Ah, Sr. Bolitar – disse ela como um sorriso que iluminou seu rosto. – Fico feliz que esteja na minha turma. Não sabia bem como reagir a isso, então me limitei a dizer: – Hã, obrigado. – Nunca dei aula para seu pai – falou ela. – Mas seu tio foi um dos meus melhores alunos. Você se parece com ele. Meu tio. O grande Myron Bolitar. Eu não gostava dele e já estava pra lá de cansado de ouvir dizerem como ele era o máximo. Meu pai e meu tio eram muito próximos, mas acabaram tendo uma briga feia. Durante os últimos 15 anos de vida do meu pai, basicamente desde a minha concepção até o dia em que ele morreu, os dois irmãos não se falaram. Imagino que eu deveria perdoar o tio Myron, mas não estou muito a fim. – Em que posso ser útil, Sr. Bolitar? Quando um professor chama você de “senhor” ou “senhorita”, costuma soar paternalista ou formal demais. Mas a Sra. Friedman acertava em cheio o tom. – Como a senhora deve saber – falei devagar –, Ashley Kent tem faltado ultimamente. – Sim, é verdade. A Sra. Friedman era uma mulher baixinha e precisou se esforçar um pouco para me encarar nos olhos. – Vocês dois são bem próximos. – Somos amigos. – Ora, Sr. Bolitar, posso ser velha, mas vi a maneira como o senhor olha para ela. Até a Srta. Caldwell está incomodada por não conseguir chamar sua atenção. Eu fiquei vermelho quando ela falou isso. Rachel Caldwell era provavelmente a menina mais gostosa da escola. – Enfim... – falei, alongando a palavra. – Eu estava pensando que talvez pudesse ajudá-la. – Ajudá-la como? – Pegando os exercícios dela e, bem, levando para ela fazer. A Sra. Friedman estava apagando o quadro-negro. A maioria dos professores usava a lousa digital, mas, como a própria Sra. Friedman gostava de brincar, ela era “das antigas, literalmente”. Ela parou e olhou para mim. – Ashley pediu para o senhor pegar os exercícios dela? – Bem, não. – Então o senhor simplesmente assumiu essa responsabilidade? Aquela era uma ideia idiota. Mesmo que ela me desse o dever de casa, para onde eu iria levá-lo? Eu nem sabia onde Ashley morava. – Deixe pra lá – falei. – Mas obrigado assim mesmo. Ela largou o apagador. – Sr. Bolitar? Tornei a me virar para ela. – O senhor sabe por que Ashley Kent tem faltado? Meu coração começou a esmurrar lentamente o peito. – Não, senhora. – Mas está preocupado. Não vi sentido em mentir para ela. – Sim, senhora. – Ela não telefonou para o senhor? – Não, não telefonou. – Estranho – disse, franzindo o cenho. – Tudo o que posso lhe dizer é que recebi um comunicado dizendo que não deveria esperar que Ashley voltasse. – Como assim? Não entendi. – É tudo o que eu sei – falou. – Imagino que ela tenha se mudado da cidade. Mas... Ela deixou a frase pela metade. – Mas o quê? – Esqueça, Sr. Bolitar – concluiu ela, voltando a apagar o quadro. – Apenas... apenas tenha cuidado. Na hora do almoço, eu estava na fila do refeitório. Eu sempre pensei que estar em um refeitório de escola de ensino médio seria mais dramático. Sim, havia muitos grupinhos formados. Os jogadores de lacrosse eram chamados de Irmãos Lacrosse. Todos tinham cabelos longos, eram musculosos e começavam cada frase que diziam com “pode crer”. Havia uma mesa para os “animes” – garotos brancos que se achavam asiáticos e adoravam mangás e os video games relacionados a eles. As garotas bonitas nem eram tão bonitas assim: eram magricelas e usavam roupas caras e saltos altos demais. Havia ainda os viciados em games, os modernos, os skatistas, os viciados em drogas, os ratos de computador e os garotos que faziam teatro. Não parecia haver muitos conflitos sociais por ali. Aquelas pessoas estavam juntas havia tanto tempo que nem se davam conta do que estava acontecendo. Os excluídos vinham se sentando sozinhos fazia tantos anos que isso já nem era mais uma questão de crueldade, mas de hábito. Eu não sabia o que era pior. Um garoto que definitivamente se encaixaria na definição de “rato de computador” se aproximou de mim carregando uma bandeja. Usava a bainha da calça dobrada até metade da canela, além de tênis totalmente brancos, sem nenhuma logo. Ele empurrou seus óculos estilo Harry Potter para cima e ergueu a bandeja na minha direção. – Ei, quer minha colher? – perguntou. – Quase não usei. Eu olhei para a bandeja. – Quase? – É. Ele levantou um pouco mais a bandeja para que eu pudesse ver. A colher estava dentro de um copo de salada de frutas cheio de calda. – Não – falei. – Não precisa. – Tem certeza? – Está faltando colher ou coisa parecida? – Não. Tem um monte. Aah, tá. – Já que é assim, não, obrigado. Ele encolheu os ombros. – Você é quem sabe. Quando terminei de comprar o almoço, Colherada (era assim que eu o chamava na minha cabeça agora) estava esperando por mim. – Onde você vai sentar? – perguntou ele. Desde que Ashley tinha sumido, eu vinha comendo sozinho do lado de fora. – Não sei. Colherada começou a me seguir. – Você é grande e gosta de ficar na sua. Tipo o Shrek. Não tinha muito a dizer quanto a isso. – Eu poderia ser o Burro. Sabe qual é? Aah, tá. Se eu saísse, ele me seguiria, então procurei um lugar seguro para sentar ali dentro mesmo. – Ou o Robin. Tipo Batman e Robin. Ou Sancho Pança. Já leu Dom Quixote? Eu também não, mas vi aquele musical, O homem de La Mancha. Adoro musicais. Meu pai também. Minha mãe, nem tanto. Ela gosta de luta, tipo MMA. Sabia que essa sigla significa artes marciais mistas? Meu pai e eu, nós vemos um musical por mês. Você gosta de musicais? – Claro – falei, correndo os olhos pelo refeitório em busca de um lugar seguro. – Meu pai é legal pra caramba. Me leva pra ver musicais e tal. Já vimos Mamma Mia três vezes. É sensacional. O filme, nem tanto. Pierce Brosnan canta como se tivesse levado uma flechada na garganta. Papai tem desconto nas entradas por trabalhar na escola. Ele é o zelador daqui. Mas nem adianta pedir pra ele deixar você entrar no vestiário das meninas, porque eu já pedi e ele disse nem pensar. Papai às vezes é bem durão, sabe? – Sei – respondi. Havia uma mesa quase vazia no canto dos excluídos. A única pessoa sentada ali era a minha donzela em perigo ingrata, Ema ou Emily – eu ainda não sabia qual era seu nome. – E então, posso ser seu Burro? – Vou pensar no assunto – falei. Fui depressa até a mesa da garota e coloquei minha bandeja ao lado da sua. Ela fazia o tipo maquiagem preta pesada, cabelo preto lambido, roupas pretas, botas pretas, pele branquela. Era gótica, ou emo, ou sei lá como se chama esse visual. Tinha tatuagens cobrindo seus antebraços e uma que subia pela gola da blusa e dava a volta no pescoço. Ema/Emily me encarou com uma expressão que só conseguiria parecer mais mal-humorada se ela tivesse levado um soco. – Ah, que ótimo – disse ela. – Companhia por piedade. – Companhia por piedade? – Pense um pouco. Eu pensei. Nunca tinha ouvido falar nisso. – Ah, entendi. Como se eu tivesse pena de você por estar sentada sozinha. Então venho lhe fazer companhia. Ela revirou os olhos. – E é agora que eu concluo que você é um atleta burro. – Estou tentando ser um homem renascentista. – Ah, então você também tem aula com a Sra. Friedman – disse, relanceando os olhos para a esquerda e depois para a direita. – Cadê sua namorada patricinha? – Não sei. – Antes você se sentava com a gatinha esnobe, agora se senta comigo – falou, balançado a cabeça. – Que decadência. Eu estava ficando cansado de pensar nela como Ema/Emily. – Como você se chama? – Por que quer saber? – Ouvi um garoto chamar você de Ema. Depois a Sra. Owens a chamou de Emily. Ela pegou seu garfo e começou a brincar com a comida. Notei que as sobrancelhas dela eram perfuradas. Ai. – Meu nome é Emily, mas todo mundo me chama de Ema. – Por quê? Só estou perguntando para saber como devo chamar você. – Ema – falou ela de má vontade. – OK. Ema. Ela brincou um pouco mais com a comida. – Então, o que você faz da vida? Quero dizer, quando não está salvando a gorda? – Essa coisa de bancar a antipática – falei – está ficando um pouco forçada. – Você acha? – Eu pegaria mais leve. – Talvez tenha razão – disse ela, encolhendo os ombros. – Então você é o garoto novo, certo? – Isso. – De onde você é? – Nós viajamos bastante – respondi. – E você? Ela fez uma careta. – Moro aqui desde que nasci. – Não me parece ser tão ruim. – Até onde percebi, você ainda não se encaixou. – Não quero me encaixar. Ema gostou dessa resposta. Eu baixei os olhos para a minha bandeja. Peguei a colher e pensei, bem... em Colherada. Balancei a cabeça e sorri. – O que foi? – perguntou Ema. – Nada. Era estranho pensar nisso, mas, quando meu pai tinha a minha idade, ele almoçava nesse mesmo refeitório. Era jovem e tinha a vida inteira pela frente. Eu corri os olhos ao redor e me perguntei onde ele teria se sentado, com quem teria conversado, se já costumava rir com a mesma facilidade de quando eu o conheci. Esses pensamentos se transformaram numa mão gigante apertando meu peito. Eu pisquei e larguei a colher. – Você está bem? – perguntou Ema. – Estou. Pensei em dona Morcega e no que ela tinha dito. Que doida varrida. Ninguém consegue uma reputação como a dela a troco de nada. Só mesmo fazendo maluquices. Tipo dizer a um garoto que viu o próprio pai morrer em um acidente de carro que o homem de quem ele sentia tanta falta ainda estava vivo. Meus pensamentos recuaram oito meses, para o dia em que nós chegamos a Los Angeles: meu pai, minha mãe e eu. Meus pais queriam que eu ficasse em um lugar onde pudesse cursar o ensino médio, jogar em um bom time de basquete e talvez até entrar para uma faculdade. Belos planos, não? Agora meu pai estava morto e minha mãe, destruída. – Ema – chamei. Ela olhou para mim desconfiada. – Você sabe alguma coisa sobre dona Morcega? Ema enrugou a testa. Quando fez isso, a maquiagem em seus olhos se franziu, abrindo-se como um leque em seguida. – Agora eu entendi. – Entendeu o quê? – Por que se sentou aqui – falou Ema. – Deve ter pensado, tipo, aquela gorda maluca deve saber tudo sobre a doida da dona Morcega. – O quê? Não. Ema se levantou com sua bandeja. – Só me deixe em paz, OK? – Não, espere! Você não está entendendo... – Entendi muito bem. Já fez sua boa ação. – Quer parar com isso? Ema... Ela se afastou depressa. Eu dei um passo para segui-la, mas então parei. Dois fortões usando jaquetas do time de futebol americano da escola soltaram risadinhas. Um apareceu à minha direita e outro à minha esquerda. O da direita (o nome escrito em letras cursivas no seu peito era Buck) me deu um tapa mais forte do que deveria no ombro e disse: – Parece que você mandou mal, hein? O outro fortão, que a jaqueta anunciava como Troy, achou graça. – É – disse Troy. – Mandou mal. Com a gorda. – Gorda e feia – complementou Buck. – E mesmo assim você mandou mal – emendou Troy. – Fala sério. Buck e Troy ergueram as mãos espalmadas e bateram um na do outro. Então se viraram para mim com os braços erguidos, para que eu fizesse o cumprimento também. – Toca aqui, mano – falou Buck. Fechei a cara: – Vocês não têm nenhuma seringa cheia de esteroides pra enfiar na bunda, não? Suas bocas formaram dois “ohs” de surpresa. Passei pela dupla com um empurrão. Enquanto me afastava, Buck gritou: – Isso não vai ficar assim. Você é um homem morto. – É – acrescentou Troy. – Um homem morto. – Põe morto nisso. – Mortinho da silva. Putz, tomara que isso não vire apelido. Enquanto ia atrás de Ema, vi a Sra. Owens, que estava como monitora no refeitório, se aproximar depressa para bloquear minha passagem. Havia um brilho em seus olhos. A Sra. Owens não tinha me perdoado pelo fiasco da dinâmica de grupo. Com o mesmo sorriso pintado na cara, ela parou bem na minha frente e soprou seu apito. – É proibido correr no refeitório – disse ela. – A não ser que você queira pegar uma semana de detenção. Fui clara? Eu olhei ao redor. Buck fez uma arma com os dedos e puxou o gatilho. Ema esvaziou sua bandeja no lixo e atravessou as portas. A Sra. Owens sorriu, desafiando-me a correr atrás da garota. Eu não fui. Pois é, eu estava mesmo fazendo amigos rápido.
Capítulo 3
O CADEADO DO MEU ARMÁRIO nunca abre de primeira. Não sei por quê. Eu tinha acabado de colocar os números certos: 14, depois de volta para o 7, então o 28... Não, ele não abriu. Estava prestes a tentar de novo quando ouvi uma voz conhecida dizer: – Eu coleciono aqueles bonecos que têm cabeça grande e pescoço de mola. Eu me virei para encarar Colherada. – Bom saber – falei. Colherada fez um gesto indicando que eu saísse do caminho. Ele sacou um molho de chaves imenso, encontrou a que estava procurando e a enfiou na parte de trás do cadeado. Ele se abriu na mesma hora. – Qual é a sua combinação? – perguntou ele. – Hã... por que eu deveria contar a você? – Se liga – disse Colherada, balançando suas chaves em frente à minha cara. – Você acha que eu preciso da combinação se quiser abrir seu armário? – Bem pensado. Eu disse os números, ele girou o segredo e então me devolveu o cadeado. – Agora deve funcionar sem problemas – concluiu. Ele fez menção de ir embora. – Espere, Colherada. Ele se virou na minha direção. – Do que você me chamou? – Desculpe, é que não sei o seu nome. – Colherada – falou ele, olhando para cima e sorrindo como se tivesse ouvido a palavra pela primeira vez. – Gostei. Colherada. Gostei mesmo. Pode me chamar de Colherada, OK? – Beleza – eu disse enquanto ele me olhava, na expectativa. – Hã, Colherada... Ele ficou radiante. Eu não sabia muito bem como fazer a pergunta, mas então desencanei: – Você tem um monte de chaves aí, hein? – Mas não me chame de Chaveiro, certo? Prefiro Colherada. – Sim, claro. Pode deixar. Você disse que o seu pai é o zelador, não foi? – Isso. Aliás, sabe a feiticeira de As crônicas de Nárnia? Ela é a maior gostosa, você não acha? – Acho – falei, tentando trazê-lo de volta para o assunto. – O seu pai pode ajudar você a entrar em todos os lugares trancados da escola? Colherada sorriu. – Claro, mas eu não preciso pedir. Tenho todas as chaves aqui – afirmou, balançando o molho para o caso de eu não saber o significado de “chaves”. – Mas a gente não pode entrar no vestiário das meninas. Eu perguntei a ele e... – Está bem, não estou falando do vestiário das meninas. Mas você pode entrar em outros lugares? Colherada empurrou os óculos para cima: – Por quê? Qual a sua ideia? – Bem – falei –, estava pensando se não poderíamos entrar na secretaria e conferir a ficha de uma aluna. – Que aluna? – O nome dela é Ashley Kent. As aulas terminavam às três da tarde, mas Colherada me disse que a barra só estaria limpa às sete. Isso significava que eu tinha quatro horas para matar. Era cedo demais para visitar minha mãe (eu só podia vê-la à noite, porque o trabalho de reabilitação era feito durante o dia), então voltei à casa de dona Morcega. Assim que saí da escola, percebi que tinha um recado no correio de voz. Suspeitei que a mensagem fosse de algum adulto. Gente da minha idade manda torpedos. Adultos deixam mensagens de voz, que são um saco, porque você tem que ligar, passar pelo atendimento, depois ouvir o recado e então apagá-lo. É, eu tinha razão. A mensagem era do meu tio Myron. “Marquei nosso voo para Los Angeles para sábado de manhã”, disse ele com sua voz mais melancólica. “Vamos num dia e voltamos no outro.” Los Angeles. Nós iríamos visitar o túmulo do meu pai. Myron nunca tinha visto o último lugar de descanso do irmão. Meus avós, que iriam nos encontrar lá, tampouco tinham visto o jazigo do filho mais novo. Tio Myron prosseguiu: “Comprei uma passagem para a sua mãe, é claro. Não podemos deixá-la sozinha. Sei que vocês dois querem ter privacidade amanhã, mas talvez seja melhor eu ficar por perto, por via das dúvidas.” Franzi a testa. Nem pensar.
“Enfim, espero que esteja tudo bem. Vou estar em casa à noite, caso você queira comer uma pizza ou algo assim.” Não estava a fim de telefonar, então mandei uma mensagem de texto bem curta: não vou jantar em casa e acho que vai ser menos estressante para a mamãe se você não estiver por perto. Myron não ia gostar nada disso, mas azar o dele. Ele não era meu tutor legal. Isso era parte do acordo que fizemos. Quando ele descobriu que meu pai tinha morrido e que minha mãe estava com problemas, ameaçou entrar com um pedido de guarda. Eu disse que se ele fizesse isso eu fugiria (ainda tinha muitos contatos no exterior) ou entraria com um pedido de emancipação. Minha mãe podia ter seus problemas, mas ainda era minha mãe. Não foi uma briga nada fácil, mas no fim das contas chegamos, se não a um pacto, a um cessar-fogo. Concordei em morar na casa dele em Kasselton, Nova Jersey. Era a mesma casa em que ele e meu pai cresceram. Sim, isso era esquisito. Eu fico no quarto do porão, que costumava ser o de Myron, e faço de tudo para evitar o quarto do andar de cima, em que meu pai passou a infância. Ainda assim, é meio sinistro. Seja como for, depois que concordei em morar lá, Myron aceitou que minha mãe continuasse a ter a minha guarda e que deveria me deixar em paz. Essa era a parte mais difícil para ele. Agora, olhando para a casa de dona Morcega, eu estremeci. O vento estava mais forte e entortava as árvores do quintal. Depois de viajar pelos quatro cantos do mundo, eu tinha visto todo tipo de superstição. A maioria era ridícula, embora meus pais sempre me dissessem para manter a mente aberta. Eu não acreditava em casas mal-assombradas. Não acreditava em fantasmas, espíritos ou em coisas que surgem à noite. Mas, se acreditasse, caramba, aquele lugar seria um prato cheio. A casa estava em um estado tão lamentável que parecia torta, como se fosse desabar se alguém a empurrasse com força. Havia tábuas soltas. Faltavam vidros nas janelas, que tinham sido substituídos por madeira. Os que restavam estavam embaçados como se a casa tivesse acabado de tomar uma ducha quente, o que, a julgar pela sujeira, não era provável. Se eu não tivesse visto a dona Morcega com meus próprios olhos, poderia jurar que a casa estava abandonada há anos. Andei até lá outra vez e bati à porta. Nenhuma resposta. Aproximei minha orelha da madeira, mas não muito, por causa das farpas, e fiquei ouvindo. Nada. Nem um pio. Bati mais um pouco. Ainda assim, ninguém respondeu. E agora? O que eu poderia fazer ali? Alguma coisa. Qualquer coisa. Decidi tentar a porta dos fundos. Dei a volta pelo lado esquerdo porque, como disse, a casa estava torta e, se ela desmoronasse de repente, não queria que caísse em cima de mim. Olhei para cima. Havia uma varanda bem lá no alto e, por um instante, eu imaginei dona Morcega sentada ali numa cadeira de balanço, ainda vestida de branco, me observando. Apertei o passo, imaginando o que encontraria no quintal dos fundos. Nada. A parte de trás da casa era colada ao bosque. Era a coisa mais estranha do mundo, como se metade dela tivesse sido construída em um terreno e a outra metade na floresta e brotasse do meio do mato. Da rua, parecia apenas que o fundo do quintal era cheio de árvores. Mas árvore era só o que havia ali. As raízes pareciam se mesclar à fundação. Trepadeiras grossas e feias subiam pelas paredes de trás. Não dava para saber se a casa tinha sido erguida no bosque e depois haviam feito uma clareira na frente ou se era o contrário, e a mata tinha vindo sorrateira e engolido aos poucos toda a casa de dona Morcega. – O que você está fazendo? Eu mordi os lábios para conter um grito e dei um pulo tão alto que teria sido suficiente para enterrar uma bola de basquete. A voz tinha vindo de trás de mim. Eu me virei depressa, recuando dois passos e me chocando contra uma árvore. Era Ema. – Que susto, hein? Ela riu e levantou os braços como se fossem asas. – Achou que dona Morcega tinha vindo pegar você? Minha voz saiu num sussurro: – Corta essa. – Nossa, como você é durão. – O que você está fazendo aqui? – perguntei. Ela deu de ombros. – Espere um minuto, você estava me seguindo? – Fala sério, Mickey – disse ela, pondo as mãos no quadril. – Dá pra ser menos convencido? Não sabia bem como responder a isso. – Eu só... – Ema suspirou. – Você falou sobre dona Morcega. E me salvou, não foi? Então acho que fiquei curiosa. – Daí você me seguiu? Ema não respondeu. Em vez disso, olhou em volta como se tivesse acabado de perceber que estávamos meio dentro da mata, meio recostados nos fundos da casa de dona Morcega. – Então, o que você está fazendo aqui? Como não deu sorte com a gorda, decidiu ver se conseguiria alguma coisa com a velha? Eu simplesmente olhei para ela. – Eu ouvi o que aqueles dois falaram, Buck e Troy. Eles pegam no meu pé há tanto tempo que nem lembro mais quando começou. Ela olhou para o lado, mordeu o lábio inferior e então tornou a me encarar. – Também ouvi que eles ameaçaram você por ter me defendido. Eu dei de ombros. – Então, o que você está fazendo aqui? – repetiu ela. Eu me perguntei como explicaria a situação, mas então resolvi simplificar: – Quero falar com dona Morcega. Ema sorriu. – Não, sério. – Estou falando sério. – Não, não está. Porque, bem, ela não existe. Dona Morcega é só um mito que as crianças mais velhas usam para assustar as menores. Tipo, eu não conheço ninguém que a tenha visto de verdade. – Eu a vi – falei. – Quando? – Hoje de manhã. Ela me disse que meu pai ainda estava vivo. Ema pareceu intrigada. – Ele morreu em um acidente de carro no começo do ano – expliquei. – Caramba – disse Ema. Seus olhos se arregalaram. – Não sei bem o que dizer. – Só quero conversar com ela. – OK, já entendi. Eu vi você bater à porta. Então, qual o seu plano agora? – Tentar a porta dos fundos. – Faz sentido, acho – falou Ema. Ela estreitou os olhos em direção ao bosque. – Veja só aquilo. Ema apontou para o meio da mata e deu alguns passos na direção dela. Eu não vi nada além de árvores. – Tem uma estrada lá atrás – falou Ema. – Uma construção também, parece. Eu continuava sem ver nada. Ela caminhou para lá e eu a segui. Alguns passos depois, vi que Ema tinha razão. Ali, a uns 50 metros da casa de dona Morcega, havia algo que podia ser uma garagem. A pintura verde e marrom a camuflava e uma estrada de terra que vinha de algum lugar da mata conduzia até ela. Da frente da casa não dava para ver nem a estrada nem a garagem. Na verdade, não dava pra vê-las nem dos fundos. Ema se agachou e tocou a terra. – Marcas de pneu – falou, como se estivesse seguindo alguém em um filme antigo. – Deve ser assim que dona Morcega entra e sai de casa... por essa estrada de terra. Ela pode estacionar aqui e entrar sem que ninguém veja. – Dona Morcega dirige? – Ué, você acha que ela voa? Senti um calafrio. A garagem estava em melhor estado do que a casa, mas não muito. Tentei abrir a porta. Também estava trancada. Não havia janelas, de modo que não era possível dizer se tinha algum carro lá dentro. Eu não sabia que conclusões tirar daquilo tudo. Provavelmente nenhuma. A moradora do lugar era uma velha excêntrica que preferia usar um caminho privativo. Grande coisa. Eu não tinha motivo para estar lá. Exceto, é claro, pelo fato de ela saber meu nome. E de ter dito que meu pai estava vivo... Que tipo de pessoa diz uma coisa dessas? Seu pai ainda está vivo? Quem faria uma barbaridade dessas? Chega. Dei meia-volta e segui rumo à porta dos fundos. Bati. Nenhuma resposta. Bati mais forte. A porta tinha vidraças empoeiradas. Apoiei as mãos em concha para olhar lá dentro e, enquanto fazia isso, senti a porta ceder um pouco. Olhei para a maçaneta. O batente estava carcomido. Enfiei a mão no bolso e saquei minha carteira. Ema já estava do meu lado. Peguei um cartão de crédito, escondendo o nome gravado no plástico. – Caramba – falou Ema. – Você sabe arrombar? – Não, mas já vi isso na tevê. É só tipo passar o cartão. Ela franziu a testa. – E você acha que vai funcionar? – Normalmente não acharia – respondi. – Mas olhe como esta maçaneta está velha. Parece que vai desmontar se eu respirar mais forte perto dela. – Está bem, mas pense melhor. – Hã? – Vamos imaginar que você consiga abrir a porta – disse Ema. – E depois? Eu não havia planejado tão à frente assim. Enfiei o cartão de crédito na fresta entre o batente e porta e o deslizei para baixo. Ele encontrou resistência. Forcei um pouco mais. Nada. Estava prestes a desistir quando a porta se abriu devagar com um rangido alto o suficiente para ecoar na mata. – Caramba – repetiu Ema. Empurrei a porta, abrindo-a por completo. O rangido ficou mais alto, fazendo pássaros revoarem. Ema colocou a mão no meu braço. Tinha unhas pretas e usava anéis prateados em todos os dedos. Um deles era uma caveira. – Isto é invasão de propriedade – falou ela. – Você vai chamar a polícia? – perguntei. – Tá brincando? Seus olhos se iluminaram. Ela pareceu mais jovem, mais doce, quase uma criança. Quando vi a sombra de um sorriso, arqueei uma sobrancelha e isso, imagino, o afugentou. O mau humor estava de volta. – Tanto faz – disse ela, tentado parecer indiferente. – É maneiro. Não, não era maneiro. Eu sabia que aquela não era a atitude mais inteligente, mas a necessidade de fazer algo, qualquer coisa, era maior do que a preocupação comigo mesmo. Além do mais, sinceramente, qual era o risco? Uma velha tinha gritado algumas maluquices para mim de manhã. Eu voltei para falar com ela. Quando ninguém atendeu à porta, resolvi conferir se ela estava bem. Essa seria a minha versão. O que eles poderiam fazer? Me prender por isso? – Pode ir pra casa, se quiser – falei para Ema. – Vai sonhando. – Ter alguém vigiando a entrada viria a calhar. – Prefiro entrar com você. Balancei a cabeça. Ema suspirou. – Está bem, eu fico de vigia. Ela sacou seu celular. – Qual é o seu telefone? Eu lhe dei meu número. – Vou ficar ali. Se vir dona Morcega bater as asas, mando um torpedo. Aliás, o que você vai fazer se ela estiver lá dentro, esperando no escuro para pular no seu pescoço? Não me dei o trabalho de responder, embora na verdade não tivesse pensado nisso. E se dona Morcega estivesse esperando por mim e... e o quê? O que ela poderia fazer? Saltar nas minhas costas? Eu sou um adolescente de 1,93m. Ela é uma velha minúscula. Fala sério. Entrei na cozinha. Não fechei a porta atrás de mim. Queria poder escapar rápido caso... bem, sei lá. A cozinha era antiga. (Uma vez assisti com meu pai à reprise de uma série de tevê em preto e branco chamada The Honeymooners. Não achei muita graça, para dizer a verdade. Boa parte do humor parecia vir das ameaças que Ralph fazia de bater na mulher, Alice. O casal tinha uma geladeira igual à de dona Morcega – se é que alguém poderia chamar aquilo de geladeira.) O piso de linóleo era amarelo-sujo como os dentes de um fumante. Um relógio cuco estava parado na hora errada, com o pássaro do lado de fora da casinha marrom. O bicho parecia estar com frio. – Olá... – chamei. – Alguém em casa? Nem um pio. Eu deveria simplesmente ir embora. Sério. O que estava procurando? Seu pai não morreu. Ele está muito vivo. Por um lado, eu sabia que isso era mentira. Estava no carro com meu pai e o vi morrer. Por outro... ninguém fala uma coisa dessas a um filho sem esperar que ele peça explicações. Na ponta dos pés, passei pelos ladrilhos descascados e vi uma toalha de mesa quadriculada do tipo que cobriria as mesas numa pizzaria de quinta. Havia saleiros e pimenteiras grudados nela, com o conteúdo endurecido. Saí da cozinha e parei diante de uma escada em espiral que conduzia ao segundo andar. Onde, sem dúvida, ficava o quarto de dona Morcega. – Olá? Nenhuma resposta. Botei o pé no primeiro degrau. Então a imagem de dona Morcega talvez se vestindo ou tomando banho invadiu minha cabeça. Coloquei o pé de volta no primeiro andar. Não, senhor. Eu não iria subir. Pelo menos não por enquanto. Entrei na sala de estar. Estava escura. Cor predominante: marrom. Pouquíssima luz conseguia atravessar a poeira e as tábuas que cobriam as janelas. Havia um relógio carrilhão alto, que também não funcionava. Notei um aparelho de som antigo, com gabinete, do tipo que chamavam de “alta fidelidade”, acho. Havia álbuns de vinil empilhados do lado dele. Reconheci o Pet Sounds, dos Beach Boys, os Beatles atravessando a Abbey Road e My Generation, do The Who. Tentei visualizar dona Morcega ouvindo rock no último volume naquela sala escura. A cena era simplesmente esquisita demais. Parei para ouvir outra vez. Nada. Vi uma lareira gigante do outro lado da sala. O aparador estava vazio, exceto por uma fotografia. Comecei a andar em sua direção quando algo me fez parar. Havia um disco na vitrola. Fui conferir. Eu conhecia aquele LP muito bem. O disco, o último que dona Morcega tinha botado para tocar, era Aspectos de Juno, de uma banda chamada HorsePower. Meus pais a escutavam bastante. Anos atrás, quando meus pais se conheceram, mamãe era amiga de Gabriel Wire e Lex Ryder, dois integrantes da banda. Às vezes, quando meu pai estava viajando, eu a encontrava ouvindo as músicas deles sozinha e chorando. Engoli em seco. Coincidência? É claro que sim. O HorsePower ainda era uma banda famosa. Um monte de gente tinha seus discos. Por acaso aquele LP estava na vitrola de dona Morcega... Grande coisa, certo? Só que era uma grande coisa. Eu só ainda não conseguia entender como. “Siga em frente”, pensei. Tornei a andar em direção à foto em cima do aparador. A lareira estava cheia de fuligem e jornais amarelados queimados. Peguei o porta-retratos com cuidado, com medo de que ele se despedaçasse ao tocá-lo. Não se despedaçou. O vidro estava tão empoeirado que tentei limpá-lo com um sopro. Que burrice. A poeira entrou pelos meus olhos e pelo meu nariz. Eu espirrei e comecei a lacrimejar. Quando consegui controlar a ardência nos olhos, eu pisquei para focalizar a imagem que estava na minha mão. Hippies. Havia cinco deles na foto: três mulheres e dois homens, organizados em menina-menino-menina-menino-menina. Todos usavam cabelos longos, calças jeans boca de sino e colares de contas. As mulheres tinham flores nos cabelos. Os homens exibiam barbas desgrenhadas. A foto era velha – eu diria que havia sido tirada nos anos 1960 – e os cinco pareciam ser estudantes universitários ou algo assim. A imagem me fez lembrar um documentário sobre Woodstock que eu tinha visto. As cores da foto haviam desbotado com o passar dos anos, mas ainda dava para ver que tinham sido fortes um dia. As cinco pessoas posavam com sorrisos escancarados em frente a uma construção de tijolinhos. Todos vestiam camisas tie-dye com um emblema esquisito no peito. A princípio, achei que fosse um símbolo da paz. Mas não, não era isso. Cheguei mais perto, mas não conseguia entender o que era. O emblema parecia... sei lá, uma borboleta estilizada, talvez. Eu já havia lido em algum lugar sobre aquele teste psicológico com desenhos que parecem só manchas de tinta e sabia que, olhando a mesma imagem, pessoas diferentes veem coisas diferentes. Era tipo isso, só que as manchas do teste são pretas e aquele desenho era bem colorido. Olhei novamente. É, dava para identificar uma borboleta. Perto das beiradas de baixo das asas havia dois círculos... olhos, imagino. Olhos de animal, talvez. Eles pareciam brilhar. Sinistro pra caramba. Meu olhar não parava de ser atraído para a garota no centro da imagem. Ela estava um pouco mais à frente, como se fosse líder do grupo. Seu longo cabelo louro estava preso por uma faixa roxa. A blusa era, hã, justa, se é que você me entende, e delineava um corpo bastante curvilíneo. Assim que comecei a pensar que aquela hippie era até gostosa, fui invadido por uma constatação terrível: Era dona Morcega. Eca! Meu celular vibrou e levei outro susto. Saquei o aparelho depressa e olhei para a mensagem. Era de Ema. O texto estava todo em letras maiúsculas gritantes:
“Enfim, espero que esteja tudo bem. Vou estar em casa à noite, caso você queira comer uma pizza ou algo assim.” Não estava a fim de telefonar, então mandei uma mensagem de texto bem curta: não vou jantar em casa e acho que vai ser menos estressante para a mamãe se você não estiver por perto. Myron não ia gostar nada disso, mas azar o dele. Ele não era meu tutor legal. Isso era parte do acordo que fizemos. Quando ele descobriu que meu pai tinha morrido e que minha mãe estava com problemas, ameaçou entrar com um pedido de guarda. Eu disse que se ele fizesse isso eu fugiria (ainda tinha muitos contatos no exterior) ou entraria com um pedido de emancipação. Minha mãe podia ter seus problemas, mas ainda era minha mãe. Não foi uma briga nada fácil, mas no fim das contas chegamos, se não a um pacto, a um cessar-fogo. Concordei em morar na casa dele em Kasselton, Nova Jersey. Era a mesma casa em que ele e meu pai cresceram. Sim, isso era esquisito. Eu fico no quarto do porão, que costumava ser o de Myron, e faço de tudo para evitar o quarto do andar de cima, em que meu pai passou a infância. Ainda assim, é meio sinistro. Seja como for, depois que concordei em morar lá, Myron aceitou que minha mãe continuasse a ter a minha guarda e que deveria me deixar em paz. Essa era a parte mais difícil para ele. Agora, olhando para a casa de dona Morcega, eu estremeci. O vento estava mais forte e entortava as árvores do quintal. Depois de viajar pelos quatro cantos do mundo, eu tinha visto todo tipo de superstição. A maioria era ridícula, embora meus pais sempre me dissessem para manter a mente aberta. Eu não acreditava em casas mal-assombradas. Não acreditava em fantasmas, espíritos ou em coisas que surgem à noite. Mas, se acreditasse, caramba, aquele lugar seria um prato cheio. A casa estava em um estado tão lamentável que parecia torta, como se fosse desabar se alguém a empurrasse com força. Havia tábuas soltas. Faltavam vidros nas janelas, que tinham sido substituídos por madeira. Os que restavam estavam embaçados como se a casa tivesse acabado de tomar uma ducha quente, o que, a julgar pela sujeira, não era provável. Se eu não tivesse visto a dona Morcega com meus próprios olhos, poderia jurar que a casa estava abandonada há anos. Andei até lá outra vez e bati à porta. Nenhuma resposta. Aproximei minha orelha da madeira, mas não muito, por causa das farpas, e fiquei ouvindo. Nada. Nem um pio. Bati mais um pouco. Ainda assim, ninguém respondeu. E agora? O que eu poderia fazer ali? Alguma coisa. Qualquer coisa. Decidi tentar a porta dos fundos. Dei a volta pelo lado esquerdo porque, como disse, a casa estava torta e, se ela desmoronasse de repente, não queria que caísse em cima de mim. Olhei para cima. Havia uma varanda bem lá no alto e, por um instante, eu imaginei dona Morcega sentada ali numa cadeira de balanço, ainda vestida de branco, me observando. Apertei o passo, imaginando o que encontraria no quintal dos fundos. Nada. A parte de trás da casa era colada ao bosque. Era a coisa mais estranha do mundo, como se metade dela tivesse sido construída em um terreno e a outra metade na floresta e brotasse do meio do mato. Da rua, parecia apenas que o fundo do quintal era cheio de árvores. Mas árvore era só o que havia ali. As raízes pareciam se mesclar à fundação. Trepadeiras grossas e feias subiam pelas paredes de trás. Não dava para saber se a casa tinha sido erguida no bosque e depois haviam feito uma clareira na frente ou se era o contrário, e a mata tinha vindo sorrateira e engolido aos poucos toda a casa de dona Morcega. – O que você está fazendo? Eu mordi os lábios para conter um grito e dei um pulo tão alto que teria sido suficiente para enterrar uma bola de basquete. A voz tinha vindo de trás de mim. Eu me virei depressa, recuando dois passos e me chocando contra uma árvore. Era Ema. – Que susto, hein? Ela riu e levantou os braços como se fossem asas. – Achou que dona Morcega tinha vindo pegar você? Minha voz saiu num sussurro: – Corta essa. – Nossa, como você é durão. – O que você está fazendo aqui? – perguntei. Ela deu de ombros. – Espere um minuto, você estava me seguindo? – Fala sério, Mickey – disse ela, pondo as mãos no quadril. – Dá pra ser menos convencido? Não sabia bem como responder a isso. – Eu só... – Ema suspirou. – Você falou sobre dona Morcega. E me salvou, não foi? Então acho que fiquei curiosa. – Daí você me seguiu? Ema não respondeu. Em vez disso, olhou em volta como se tivesse acabado de perceber que estávamos meio dentro da mata, meio recostados nos fundos da casa de dona Morcega. – Então, o que você está fazendo aqui? Como não deu sorte com a gorda, decidiu ver se conseguiria alguma coisa com a velha? Eu simplesmente olhei para ela. – Eu ouvi o que aqueles dois falaram, Buck e Troy. Eles pegam no meu pé há tanto tempo que nem lembro mais quando começou. Ela olhou para o lado, mordeu o lábio inferior e então tornou a me encarar. – Também ouvi que eles ameaçaram você por ter me defendido. Eu dei de ombros. – Então, o que você está fazendo aqui? – repetiu ela. Eu me perguntei como explicaria a situação, mas então resolvi simplificar: – Quero falar com dona Morcega. Ema sorriu. – Não, sério. – Estou falando sério. – Não, não está. Porque, bem, ela não existe. Dona Morcega é só um mito que as crianças mais velhas usam para assustar as menores. Tipo, eu não conheço ninguém que a tenha visto de verdade. – Eu a vi – falei. – Quando? – Hoje de manhã. Ela me disse que meu pai ainda estava vivo. Ema pareceu intrigada. – Ele morreu em um acidente de carro no começo do ano – expliquei. – Caramba – disse Ema. Seus olhos se arregalaram. – Não sei bem o que dizer. – Só quero conversar com ela. – OK, já entendi. Eu vi você bater à porta. Então, qual o seu plano agora? – Tentar a porta dos fundos. – Faz sentido, acho – falou Ema. Ela estreitou os olhos em direção ao bosque. – Veja só aquilo. Ema apontou para o meio da mata e deu alguns passos na direção dela. Eu não vi nada além de árvores. – Tem uma estrada lá atrás – falou Ema. – Uma construção também, parece. Eu continuava sem ver nada. Ela caminhou para lá e eu a segui. Alguns passos depois, vi que Ema tinha razão. Ali, a uns 50 metros da casa de dona Morcega, havia algo que podia ser uma garagem. A pintura verde e marrom a camuflava e uma estrada de terra que vinha de algum lugar da mata conduzia até ela. Da frente da casa não dava para ver nem a estrada nem a garagem. Na verdade, não dava pra vê-las nem dos fundos. Ema se agachou e tocou a terra. – Marcas de pneu – falou, como se estivesse seguindo alguém em um filme antigo. – Deve ser assim que dona Morcega entra e sai de casa... por essa estrada de terra. Ela pode estacionar aqui e entrar sem que ninguém veja. – Dona Morcega dirige? – Ué, você acha que ela voa? Senti um calafrio. A garagem estava em melhor estado do que a casa, mas não muito. Tentei abrir a porta. Também estava trancada. Não havia janelas, de modo que não era possível dizer se tinha algum carro lá dentro. Eu não sabia que conclusões tirar daquilo tudo. Provavelmente nenhuma. A moradora do lugar era uma velha excêntrica que preferia usar um caminho privativo. Grande coisa. Eu não tinha motivo para estar lá. Exceto, é claro, pelo fato de ela saber meu nome. E de ter dito que meu pai estava vivo... Que tipo de pessoa diz uma coisa dessas? Seu pai ainda está vivo? Quem faria uma barbaridade dessas? Chega. Dei meia-volta e segui rumo à porta dos fundos. Bati. Nenhuma resposta. Bati mais forte. A porta tinha vidraças empoeiradas. Apoiei as mãos em concha para olhar lá dentro e, enquanto fazia isso, senti a porta ceder um pouco. Olhei para a maçaneta. O batente estava carcomido. Enfiei a mão no bolso e saquei minha carteira. Ema já estava do meu lado. Peguei um cartão de crédito, escondendo o nome gravado no plástico. – Caramba – falou Ema. – Você sabe arrombar? – Não, mas já vi isso na tevê. É só tipo passar o cartão. Ela franziu a testa. – E você acha que vai funcionar? – Normalmente não acharia – respondi. – Mas olhe como esta maçaneta está velha. Parece que vai desmontar se eu respirar mais forte perto dela. – Está bem, mas pense melhor. – Hã? – Vamos imaginar que você consiga abrir a porta – disse Ema. – E depois? Eu não havia planejado tão à frente assim. Enfiei o cartão de crédito na fresta entre o batente e porta e o deslizei para baixo. Ele encontrou resistência. Forcei um pouco mais. Nada. Estava prestes a desistir quando a porta se abriu devagar com um rangido alto o suficiente para ecoar na mata. – Caramba – repetiu Ema. Empurrei a porta, abrindo-a por completo. O rangido ficou mais alto, fazendo pássaros revoarem. Ema colocou a mão no meu braço. Tinha unhas pretas e usava anéis prateados em todos os dedos. Um deles era uma caveira. – Isto é invasão de propriedade – falou ela. – Você vai chamar a polícia? – perguntei. – Tá brincando? Seus olhos se iluminaram. Ela pareceu mais jovem, mais doce, quase uma criança. Quando vi a sombra de um sorriso, arqueei uma sobrancelha e isso, imagino, o afugentou. O mau humor estava de volta. – Tanto faz – disse ela, tentado parecer indiferente. – É maneiro. Não, não era maneiro. Eu sabia que aquela não era a atitude mais inteligente, mas a necessidade de fazer algo, qualquer coisa, era maior do que a preocupação comigo mesmo. Além do mais, sinceramente, qual era o risco? Uma velha tinha gritado algumas maluquices para mim de manhã. Eu voltei para falar com ela. Quando ninguém atendeu à porta, resolvi conferir se ela estava bem. Essa seria a minha versão. O que eles poderiam fazer? Me prender por isso? – Pode ir pra casa, se quiser – falei para Ema. – Vai sonhando. – Ter alguém vigiando a entrada viria a calhar. – Prefiro entrar com você. Balancei a cabeça. Ema suspirou. – Está bem, eu fico de vigia. Ela sacou seu celular. – Qual é o seu telefone? Eu lhe dei meu número. – Vou ficar ali. Se vir dona Morcega bater as asas, mando um torpedo. Aliás, o que você vai fazer se ela estiver lá dentro, esperando no escuro para pular no seu pescoço? Não me dei o trabalho de responder, embora na verdade não tivesse pensado nisso. E se dona Morcega estivesse esperando por mim e... e o quê? O que ela poderia fazer? Saltar nas minhas costas? Eu sou um adolescente de 1,93m. Ela é uma velha minúscula. Fala sério. Entrei na cozinha. Não fechei a porta atrás de mim. Queria poder escapar rápido caso... bem, sei lá. A cozinha era antiga. (Uma vez assisti com meu pai à reprise de uma série de tevê em preto e branco chamada The Honeymooners. Não achei muita graça, para dizer a verdade. Boa parte do humor parecia vir das ameaças que Ralph fazia de bater na mulher, Alice. O casal tinha uma geladeira igual à de dona Morcega – se é que alguém poderia chamar aquilo de geladeira.) O piso de linóleo era amarelo-sujo como os dentes de um fumante. Um relógio cuco estava parado na hora errada, com o pássaro do lado de fora da casinha marrom. O bicho parecia estar com frio. – Olá... – chamei. – Alguém em casa? Nem um pio. Eu deveria simplesmente ir embora. Sério. O que estava procurando? Seu pai não morreu. Ele está muito vivo. Por um lado, eu sabia que isso era mentira. Estava no carro com meu pai e o vi morrer. Por outro... ninguém fala uma coisa dessas a um filho sem esperar que ele peça explicações. Na ponta dos pés, passei pelos ladrilhos descascados e vi uma toalha de mesa quadriculada do tipo que cobriria as mesas numa pizzaria de quinta. Havia saleiros e pimenteiras grudados nela, com o conteúdo endurecido. Saí da cozinha e parei diante de uma escada em espiral que conduzia ao segundo andar. Onde, sem dúvida, ficava o quarto de dona Morcega. – Olá? Nenhuma resposta. Botei o pé no primeiro degrau. Então a imagem de dona Morcega talvez se vestindo ou tomando banho invadiu minha cabeça. Coloquei o pé de volta no primeiro andar. Não, senhor. Eu não iria subir. Pelo menos não por enquanto. Entrei na sala de estar. Estava escura. Cor predominante: marrom. Pouquíssima luz conseguia atravessar a poeira e as tábuas que cobriam as janelas. Havia um relógio carrilhão alto, que também não funcionava. Notei um aparelho de som antigo, com gabinete, do tipo que chamavam de “alta fidelidade”, acho. Havia álbuns de vinil empilhados do lado dele. Reconheci o Pet Sounds, dos Beach Boys, os Beatles atravessando a Abbey Road e My Generation, do The Who. Tentei visualizar dona Morcega ouvindo rock no último volume naquela sala escura. A cena era simplesmente esquisita demais. Parei para ouvir outra vez. Nada. Vi uma lareira gigante do outro lado da sala. O aparador estava vazio, exceto por uma fotografia. Comecei a andar em sua direção quando algo me fez parar. Havia um disco na vitrola. Fui conferir. Eu conhecia aquele LP muito bem. O disco, o último que dona Morcega tinha botado para tocar, era Aspectos de Juno, de uma banda chamada HorsePower. Meus pais a escutavam bastante. Anos atrás, quando meus pais se conheceram, mamãe era amiga de Gabriel Wire e Lex Ryder, dois integrantes da banda. Às vezes, quando meu pai estava viajando, eu a encontrava ouvindo as músicas deles sozinha e chorando. Engoli em seco. Coincidência? É claro que sim. O HorsePower ainda era uma banda famosa. Um monte de gente tinha seus discos. Por acaso aquele LP estava na vitrola de dona Morcega... Grande coisa, certo? Só que era uma grande coisa. Eu só ainda não conseguia entender como. “Siga em frente”, pensei. Tornei a andar em direção à foto em cima do aparador. A lareira estava cheia de fuligem e jornais amarelados queimados. Peguei o porta-retratos com cuidado, com medo de que ele se despedaçasse ao tocá-lo. Não se despedaçou. O vidro estava tão empoeirado que tentei limpá-lo com um sopro. Que burrice. A poeira entrou pelos meus olhos e pelo meu nariz. Eu espirrei e comecei a lacrimejar. Quando consegui controlar a ardência nos olhos, eu pisquei para focalizar a imagem que estava na minha mão. Hippies. Havia cinco deles na foto: três mulheres e dois homens, organizados em menina-menino-menina-menino-menina. Todos usavam cabelos longos, calças jeans boca de sino e colares de contas. As mulheres tinham flores nos cabelos. Os homens exibiam barbas desgrenhadas. A foto era velha – eu diria que havia sido tirada nos anos 1960 – e os cinco pareciam ser estudantes universitários ou algo assim. A imagem me fez lembrar um documentário sobre Woodstock que eu tinha visto. As cores da foto haviam desbotado com o passar dos anos, mas ainda dava para ver que tinham sido fortes um dia. As cinco pessoas posavam com sorrisos escancarados em frente a uma construção de tijolinhos. Todos vestiam camisas tie-dye com um emblema esquisito no peito. A princípio, achei que fosse um símbolo da paz. Mas não, não era isso. Cheguei mais perto, mas não conseguia entender o que era. O emblema parecia... sei lá, uma borboleta estilizada, talvez. Eu já havia lido em algum lugar sobre aquele teste psicológico com desenhos que parecem só manchas de tinta e sabia que, olhando a mesma imagem, pessoas diferentes veem coisas diferentes. Era tipo isso, só que as manchas do teste são pretas e aquele desenho era bem colorido. Olhei novamente. É, dava para identificar uma borboleta. Perto das beiradas de baixo das asas havia dois círculos... olhos, imagino. Olhos de animal, talvez. Eles pareciam brilhar. Sinistro pra caramba. Meu olhar não parava de ser atraído para a garota no centro da imagem. Ela estava um pouco mais à frente, como se fosse líder do grupo. Seu longo cabelo louro estava preso por uma faixa roxa. A blusa era, hã, justa, se é que você me entende, e delineava um corpo bastante curvilíneo. Assim que comecei a pensar que aquela hippie era até gostosa, fui invadido por uma constatação terrível: Era dona Morcega. Eca! Meu celular vibrou e levei outro susto. Saquei o aparelho depressa e olhei para a mensagem. Era de Ema. O texto estava todo em letras maiúsculas gritantes:
CARRO CHEGANDO! SAI DAÍ!
Coloquei a foto de volta no lugar e voltei correndo para a cozinha. Atravessei o piso de linóleo agachado, quase como se fosse um soldado em território inimigo. Quando cheguei à parede, ergui o corpo devagar e olhei pela janela. No bosque, uma nuvem de poeira se assentava. Já conseguia ver o carro. Era todo preto, com janelas de vidro fumê. Uma limusine, ou coisa parecida, tinha parado em frente à garagem da dona Morcega. Fiquei esperando, sem saber bem o que fazer. Então a porta do carona se abriu. Por um momento, nada aconteceu. Olhei para a esquerda, depois para a direita, procurando por Ema. Lá estava ela, tentando se esconder atrás de uma árvore. Ema apontou para a minha direita. Hã? Encolhi os ombros para ela, como se dissesse “o que foi?”. Ela continuou gesticulando, com mais insistência dessa vez. Olhei para onde ela apontava. A porta da cozinha ainda estava aberta! Tinha esquecido de fechá-la. Me agachei e estiquei a perna na direção dela. Usando o pé, fechei a porta com um chute, mas ela não parou no lugar. Em vez disso, se abriu de volta, rangendo. Tentei novamente, mas a trava estava quebrada. A porta não ficaria fechada. Decidi empurrá-la devagar para que ficasse apenas entreaberta. Arrisquei olhar outra vez pela janela. Ema me fuzilou com os olhos e começou a digitar no telefone. A mensagem chegou com um zumbido:
qual parte de CARRO CHEGANDO! SAI DAÍ! vc naum entendeu? rápido, cara!
Não me mexi. Ainda não. Para começar, não sabia direito para qual lado ir. Não dava para sair pelos fundos, porque seria visto por quem estivesse no carro preto. Poderia sair correndo pela frente, mas isso talvez acabasse chamando a atenção. Então, por ora, fiquei onde estava, não desgrudei os olhos do carro e esperei. A porta do carona se abriu um pouco mais. Continuei agachado, mantendo só a testa e os olhos acima do peitoril. Vi um sapato pisar no chão, depois outro. Sapatos pretos. Masculinos. Logo em seguida, alguém saiu do carro. Era mesmo um homem. Sua cabeça estava totalmente raspada. Ele usava terno preto e óculos escuros estilo aviador. Parecia estar vindo de um funeral ou ser um agente de elite do Serviço Secreto. Quem era aquela figura? O homem manteve o corpo ereto feito um pedaço de pau enquanto sua cabeça girava como a de um robô, sondando a área. Ele se deteve na árvore em que Ema estava tentando, sem nenhum sucesso, se esconder. Deu um passo em sua direção. Ema apertou os olhos, como se estivesse desejando sumir dali. O homem de cabeça raspada deu outro passo. Não restava a menor dúvida. Ele a vira. Fiquei debatendo comigo mesmo o que fazer... mas não por muito tempo. Precisava agir rápido, distraí-lo. Resolvi bater a porta dos fundos para chamar sua atenção. Estava prestes a fazer isso quando Ema abriu os olhos. Ela girou o corpo, saindo de trás da árvore com sua roupa gótica. O homem parou de andar no ato. – Oi – disse Ema. – O senhor gostaria de comprar biscoitos para ajudar as escoteiras? O homem de óculos escuros a encarou por um tempo e falou: – Você está invadindo esta propriedade. Sua voz era monótona, sem vida. – Certo, desculpe, senhor – falou ela. – É o seguinte, eu estava andando pelo bairro e já ia bater à sua porta quando ouvi o carro do senhor, então pensei “ora, vou facilitar a vida dele e dar a volta até os fundos”. Ela tentou sorrir para o homem. Ele pareceu não estar gostando nada daquilo. Ema continuou falando. – Bem, nosso sabor mais popular ainda é chocolate com menta, mas acabamos de lançar um sabor novo: doce de leite. Se bem que eu ache que eles são doces demais, então, se a pessoa estiver preocupada com as calorias... é, não parece ser o meu caso, né?... mas o senhor pode experimentar o gotas de chocolate diet. O homem simplesmente olhou para ela. – Ou então ainda vendemos os de baunilha com cobertura de caramelo e coco queimado, os de aveia recheados de manteiga de amendoim, além dos amanteigados e dos de baunilha com manteiga de amendoim e cobertura de chocolate. Longe de mim querer pressionar o senhor, mas todos os seus vizinhos já fizeram pedidos. A família Asselta, que mora aqui do lado, comprou 30 caixas e, com um pouco de ajuda, posso ficar em primeiro lugar na minha tropa e ganhar um vale-presente no valor de 100 dólares para a loja de bonecas American Girl... – Saia daqui. – Perdão. O que o senhor disse...? – Saia daqui. Não havia a menor boa vontade na voz dele. – Agora. – Certo, tudo bem. Ema ergueu as mãos, fingindo se render, e desapareceu às pressas. Eu recuei por um instante, aliviado e também impressionadíssimo. Isso é que era pensar rápido. Ema tinha se safado. Agora era a minha vez. Dei outra olhada pela janela. O homem de cabeça raspada estava parado diante da porta da garagem. Ele a abriu e seja lá quem estivesse dirigindo guiou o carro para dentro. O homem continuou girando a cabeça, como uma câmera de segurança, então se virou de repente para a esquerda e olhou bem na minha direção. Eu me joguei no chão, sumindo de vista. Será que ele tinha me visto? Parecia bastante provável, pela maneira como olhou direto para onde eu estava, mas com aqueles óculos escuros era impossível ter certeza. Voltei engatinhando para o outro cômodo, posicionando-me no chão de modo que conseguisse ver a porta dos fundos. Estava com o celular na mão. Escrevi rápido um torpedo para Ema:
VC TÁ BEM?
Dois segundos depois, ela respondeu:
sim. SAI DAÍ!
Ema tinha razão. Sem me levantar, passei novamente pela escada em espiral. Imaginei o que poderia haver lá em cima e um calafrio percorreu meu corpo. Quem era aquele cara sinistro de cabeça raspada e terno preto? Talvez a explicação fosse simples, pensei. Ele podia ser parente de dona Morcega. Talvez fosse um sobrinho ou coisa do tipo. Todo vestido de preto daquele jeito... quem sabe não era o bat-sobrinho? Já estava chegando à porta da frente. Até ali, ninguém tinha entrado. Perfeito. Ergui o corpo e dei uma última olhada na foto dos anos 1960 e no emblema esquisito em formato de borboleta em todas as camisas. Olhei os rostos das pessoas, tentando gravar uma imagem que pudesse reavaliar mais tarde. Minha mão encontrou a maçaneta. Foi então que uma luz se acendeu atrás de mim. Eu congelei. A luz era fraca, mas naquela escuridão... Eu girei lentamente a cabeça. Um brilho vinha da fresta da porta do porão. Havia alguém lá embaixo... alguém que tinha acabado de acender a luz. Uma enxurrada de pensamentos invadiu minha cabeça. O mais forte de todos foi um comando de uma palavra só: CORRA! Eu tinha assistido a muitos filmes de terror, aqueles em que um cabeça oca com sérios problemas mentais resolve entrar na casa sozinho, bisbilhotar um pouco como... bem, como eu... e acaba com um machado enfiado na testa. Da segurança do meu lugar no cinema, eu costumava rir da idiotice deles. Agora lá estava eu, no covil da dona Morcega, e havia mais alguém ali, no porão. Por que eu tinha vindo? A resposta era simples, na verdade. Dona Morcega havia me chamado pelo nome e dito que meu pai estava vivo. E, mesmo sabendo que isso não poderia ser verdade de forma alguma, eu estava disposto a arriscar qualquer coisa, inclusive a minha segurança, se houvesse uma chance, por menor que fosse, de haver um pingo de verdade nas palavras dela. Eu sentia tanto a falta do meu pai. A porta do porão brilhava. Eu sabia que o brilho era fruto da minha imaginação ou uma ilusão de ótica causada pelo fato de a luz que vinha de lá se contrapor ao restante da casa, que estava tão escura. Mas isso não serviu para me acalmar. Fiquei parado, ouvindo. Agora conseguia perceber algo se movendo lá embaixo. Eu me aproximei. Ouvi vozes. Duas. De homens. Meu telefone tornou a vibrar. Ema:
SAI DAÍ!
Parte de mim queria ficar. Parte de mim queria escancarar aquela porta e pagar para ver. Mas outra parte, talvez a que tinha milhões de anos de idade, a parte animal que ainda agia pelo instinto de sobrevivência, se levantou. Meu lado primitivo olhou para aquela luz e pressentiu perigo. Um grande perigo. Voltei para os fundos da casa. Girei a maçaneta, abri a porta e saí correndo.
Capítulo 4
ENCONTREI EMA A TRÊS quarteirões da casa. – Aquilo – disse ela, abrindo um sorriso pela primeira vez desde que nos conhecíamos – foi demais! – É – falei. – Acho que sim. – Então, qual a próxima casa que você quer arrombar? – Muito engraçado – disse, mas não consegui conter um sorriso. – O que foi? – perguntou ela. Eu comecei a rir. – O quê? – Você – falei. – Vendendo biscoito para as escoteiras. Ela também riu. O som era melodioso. – O que foi? Você acha que eu não convenço como escoteira? Eu me limitei a olhar para ela: suas roupas pretas, unhas pintadas de preto e piercing prateado na sobrancelha. – Ah, convence. Belo uniforme. – Eu posso ser a escoteira gótica. Ela exibiu seu celular: – Ah, anotei a placa daquele carro preto. Não sei o que você pode conseguir com isso, mas pensei “mal não vai fazer”. Eu tinha uma ideia do que fazer com aquilo. – Pode mandar pra mim? Ema assentiu, digitou um pouco e então apertou ENVIAR. – Então, o que você vai fazer agora? – perguntou ela. Encolhi os ombros. O que poderia fazer? Ligar para a polícia não adiantaria. O que diria a eles? Que um homem de terno preto entrou numa garagem? Até onde eu sabia, ele poderia morar ali. E, para começo de conversa, como explicaria à polícia o fato de eu estar dentro da casa? Contei a Ema sobre a fotografia, o emblema em formato de borboleta e a luz no porão. Quando terminei, ela falou: – Caramba. – Você fala bastante isso. – O quê? – Caramba – respondi. – Na verdade, não falo, não. Mas andando com você... bem, me parece bastante apropriado. Conferi o relógio do meu celular. Estava na hora de encontrar Colherada para invadir a secretaria. Seria um milagre se eu conseguisse chegar ao fim do dia sem ir para a cadeia. – Tenho que ir – falei. – Obrigada pela aventura. – Obrigado por ficar de vigia. – Mickey? Eu me virei e olhei para ela. – O que você vai fazer a respeito de dona Morcega? – Não sei – respondi. – O que eu posso fazer? – Ela disse que seu pai está vivo. – É, e daí? – A gente não pode deixar por isso mesmo. – A gente? Ema pestanejou e desviou o olhar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. – Você está bem? – perguntei. – Ela ter dito isso pra você... – falou Ema. – É muita maldade. Devíamos tacar ovos na casa dela. O problema é que isso deixaria o lugar mais bonito e mais cheiroso. Ela secou o rosto com seu braço tatuado. – É melhor eu ir andando. Ema começou a se afastar. – Espere. Onde você mora? – perguntei. – Quer que eu acompanhe você? Ela fechou a cara. – Está falando sério? Me acompanhar até a minha casa? Ah, tá. Ela apertou o passo e dobrou a esquina, sumindo de vista. Pensei em segui-la, mas ela iria encher meu ouvido com uma história qualquer sobre a gorda precisar de proteção e eu não tinha tempo para isso. Colherada estava me esperando. Voltei correndo para a escola e o encontrei sozinho no estacionamento. Afastei da cabeça todas as imagens sobre dona Morcega e sua casa. Já que ainda estava pilhado de adrenalina, era melhor ver onde isso iria dar. Colherada estava sentado no capô de um carro. – E aí, Colherada? – Você não sabe da maior – disse ele, saltando do capô. – A Beyoncé adora rímel, mas é alérgica a perfume. Ele esperou, ansioso, uma reação minha. – Hã, interessante – falei. – Não é? Eu deveria ter escolhido Assuntos Aleatórios, em vez de Colherada. Colherada foi andando na frente, indicando o caminho até a porta lateral da escola. Ele passou um cartão pelo leitor magnético. Ouviu-se um clique e a porta se abriu. Nós entramos. Não existe lugar mais desolador, mais sem alma, do que uma escola à noite. O prédio tinha sido criado para ter vida, movimento constante, para abrigar alunos correndo de um lado para o outro, alguns confiantes, a maioria assustada, todos tentando encontrar seu lugar no mundo. Se tirar isso, o que sobra é como um corpo sem sangue. Os passos ecoavam tão alto no corredor que comecei a imaginar se nossos sapatos não teriam amplificadores embutidos. Seguimos calados em direção à secretaria. Quando chegamos à porta de vidro, Colherada já estava com a chave na mão. – Se meu pai descobrir – sussurrou ele –, bem, posso dar adeus às reprises de Garotos e garotas. Ele olhou para mim. Acho que eu deveria ter aproveitado a deixa para dispensá-lo, mas não fiz isso. Talvez por estar desesperado demais. Ou talvez por não gostar de Garotos e garotas. Ele girou a chave e nós entramos. A mesa da recepção era tão alta que você poderia se debruçar nela sem ter que abaixar. Geralmente havia três secretárias ali. Era estritamente proibido passar por aquela mesa, é claro; então confesso que senti um frisson quando fizemos isso. Colherada sacou uma lanterna do tamanho de uma caneta. – Está mais escuro aqui dentro. Não podemos acender nenhuma luz, OK? Eu assenti. Paramos diante da porta que dizia ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL. Sempre achei esse termo incrivelmente vago. A definição do dicionário é “Processo de acompanhamento e orientação do desenvolvimento intelectual, do aprendizado e da formação da personalidade e do caráter de estudantes”. Resumindo: uma tentativa de ajudar. Mas para nós, alunos, aquele termo e aquela sala são assustadores. Eles evocam nossas perspectivas acadêmicas, ficar mais velho, arranjar um emprego... nosso futuro. Orientação me parecia um código para “cortar nossas asas”. Colherada fisgou outra chave e abriu a porta. Eu sabia que a escola tinha 12 orientadores. Cada um tinha sua sala dentro da secretaria. A maioria das portas ficava destrancada. Nós entramos na primeira sala, que pertencia a uma jovem orientadora, a Sra. Korty. Como quase todos os outros, ela havia deixado seu computador ligado até o dia seguinte, em modo de espera. Colherada me deu a lanterna e fez um sinal com a cabeça para que eu fizesse o que planejara. Sentei à mesa da Sra. Korty e me preparei. Assim que comecei a digitar, uma caixa de mensagem surgiu na tela:
USUÁRIO: SENHA:
Droga! Pressionei o ENTER várias vezes. Nada. Suspirei e olhei de volta para Colherada. – Você tem alguma ideia? – O usuário é fácil – disse ele. – É só o e-mail. Para Janice Korty é JKorty arroba nome da escola ponto e-d-u. – E a senha? Colherada empurrou os óculos para cima. – Isso vai ser um problema. Tentei pensar em uma alternativa. – E quanto aos arquivos de papel? – Eles ficam guardados em outro prédio. E, se Ashley é aluna nova, ela nem deve ter arquivos de papel ainda. Recostei o corpo na cadeira, derrotado, e então me permiti pensar em Ashley. Meus ombros relaxaram. Lembrei a maneira nervosa como ela brincava com um fio solto do suéter. Como tinha cheiro de flores silvestres e como, quando eu a beijava, seu gosto era suave como o de amoras. Sei que isto é brega, mas eu poderia beijá-la o dia inteiro e nunca cansar. Ridículo, não? Pensei no jeito de Ashley me olhar às vezes, como se eu fosse a única pessoa do Universo inteiro. Então pensei que a garota que me olhava daquele jeito tinha desaparecido sem se despedir. Não fazia sentido. Eu precisava pensar melhor. A Sra. Korty era nova: a orientadora mais jovem da escola. Algo nessa informação desencadeou outro pensamento. Eu me virei para Colherada: – Quais são os orientadores mais velhos daqui? – Mais velhos de idade? – É. – Por quê? – Vá, diga. – O Sr. Betz – falou Colherada sem hesitar. – Ele é tão velho que dá aula sobre Shakespeare porque os dois se conheceram pessoalmente. Eu tinha visto o Sr. Betz nos corredores. Ele usava bengala e gravata-borboleta. Considerei a hipótese... ele podia muito bem ser o homem que eu queria. – Qual é a sala dele? – Por quê? – Só me mostre, OK? Quando voltamos ao corredor, Colherada apontou para a sala na extremidade oposta. Enquanto seguíamos em sua direção, eu olhava para dentro de cada sala por que passávamos, vasculhando as telas dos computadores em busca de senhas anotadas em papeizinhos adesivos. Nada feito. A mesa do Sr. Betz tinha apoios para livros decorados com globos terrestres e um porta-canetas do mesmo modelo, com seu nome gravado nele. Havia também um velho grampeador e vários prêmios em placas de acrílico. Sentei à mesa dele e liguei o computador. A mesma caixa de texto apareceu:
USUÁRIO: SENHA:
Colherada olhou para mim e deu de ombros: – O que você esperava? Exatamente isto. Abri a gaveta da direita. Canetas, lápis, clipes, uma caixa de fósforos, um cachimbo. Passei para a gaveta do meio. Olhei para dentro dela, sorri e falei: – Bingo. – Hã? Embora isso não seja uma regra geral, as pessoas que parecem não ser as mais instruídas em termos de informática costumam recorrer aos bons e velhos bilhetinhos para não esquecerem coisas como nomes de usuário e senhas. Ali, em uma ficha de arquivo padrão, o Sr. Betz tinha escrito o seguinte:
GLOBETHEATRE1599
Se aquilo não era uma senha... – O Shakespeare Globe Theatre foi construído em Londres 1599 – comentou Colherada. – Um incêndio o destruiu em 29 de julho de 1613. Ele foi reconstruído em 1614 e fechado em 1642. Em 1997 foi inaugurado um novo prédio, feito com base nas escavações do original e nos registros sobre ele. Maravilha. O primeiro nome do Sr. Betz era Richard. Digitei RBetz como nome de usuário e GLOBETHEATRE1599 no espaço para a senha. Pressionei o ENTER e esperei. Uma pequena ampulheta girou por um instante antes de a seguinte mensagem surgir na tela:
BEM-VINDO, RICHARD!
Colherada sorriu e ergueu a palma da mão. Eu bati nela com a minha. Então cliquei no link de registro de alunos e digitei: Kent, Ashley. Quando sua fotografia apareceu (a que nós havíamos tirado para o cartão de identificação no nosso primeiro dia na escola), senti como se algo tivesse entrado no meu peito e apertado meu coração. – Cara – falou Colherada –, dá para entender por que você está atrás dela. Se você estivesse fazendo um dicionário de imagens e precisasse de uma foto que definisse recato, usaria a expressão dela naquela fotografia. Ela estava bonita, sem dúvida, linda até, mas o que você realmente sentia era que ela era reservada, tímida e que estava um tanto desconfortável posando para a fotografia. Era como se algo naquela imagem, algo nela, na verdade, me chamasse. Seu registro era breve. Os pais eram Patrick e Catherine Kent. O número do telefone fixo e o endereço deles, no bairro de Carmenta Terrace, também constavam ali. Peguei uma caneta do Sr. Betz e encontrei um pedaço de papel. – Impressões digitais – falou Colherada, apontando para a caneta. – Por falar nisso, as suas digitais também devem estar no teclado. Fiz uma careta. – Você acha que alguém vai procurar impressões digitais? – Pode ser que sim. – Então vou viver perigosamente – falei. Anotei o endereço e o telefone. Corri os olhos pelo restante da página. Dizia HISTÓRICO ESCOLAR PENDENTE. Supus que isso significava que não tinham nenhuma informação sobre a escola anterior de Ashley. Havia ainda a lista de matérias que ela deveria estar cursando, mas isso eu já sabia. O restante da tela estava em branco. Fiquei tentado a conferir meus próprios registros, só por curiosidade, mas Colherada olhou para mim de um jeito que pedia que eu me apressasse. Botei a caneta de volta no lugar com cuidado, fingi limpar todas as minhas impressões digitais e segui Colherada para fora dali. Quando chegamos lá fora, conferi meu celular. Outra mensagem de voz do meu tio Myron. Eu a ignorei. A noite já havia caído. Olhei para as estrelas no breu do céu sem nuvens. – Você sabe onde fica Carmenta Terrace? – perguntei a Colherada. – Claro. Fica no caminho da minha casa. Quer que eu leve você até lá? Eu respondi que sim. Então nós fomos. Colherada era uns bons 30 centímetros mais baixo do que eu. Ele seguia à minha direita, olhando para os próprios pés enquanto andava. – De manhã vou fazer waffles – disse. Eu sorri. – Essa eu conheço – falei. – Conhece? – É o Burro falando pro Shrek. – Você joga basquete – disse Colherada. Não entendi se tinha sido uma pergunta ou uma afirmação. Fiz que sim com a cabeça. Quando se tem 1,93m, você acaba se acostumando a essa pergunta. – E se chama Mickey Bolitar – prosseguiu ele. – Isso. – O nome Myron Bolitar está no ginásio inteiro. Ele é dono de quase todos os recordes de basquete da escola. De pontos, de rebotes, de vitórias... Como eu sabia bem até demais. – É seu pai? – perguntou Colherada. – Meu tio. – Ah. Continuamos andando. – Nossa escola ganhou 18 partidas e perdeu cinco no ano passado –disse Colherada. – O time ficou em segundo lugar no último estadual, mas ainda tem seus seis melhores jogadores. Só que agora eles vão estar no último ano. Eu sabia disso tudo. Era um dos motivos pelos quais eu, um reles aluno do segundo ano, estava na minha por enquanto. Ainda não tinha jogado na cidade, preferia praticar em Newark, nas partidas em que os jogadores eram escolhidos na hora, e por isso ficavam mais competitivas. Passamos por um campo onde crianças de no máximo 10 anos treinavam futebol americano. Os técnicos gritavam como se treinassem uma equipe profissional. As pessoas daquela cidade eram fanáticas por esportes. Na primeira semana de aula eu havia perguntado a alguém quantos atletas profissionais tinham estudado na minha escola. A resposta: um só, meu tio. E, na verdade, ele nunca tinha jogado na liga profissional. Foi selecionado na primeira rodada de contratações, mas arrebentou o joelho na pré- temporada e pronto: fim de carreira. Myron nunca chegou a vestir a camisa do Boston Celtics. Eu pensava nisso às vezes, em como meu tio deve ter se sentido, e então imaginava se isso poderia explicar o problema entre ele e meu pai. Mas o que tinha acontecido entre os dois ainda era culpa de Myron, então eu não via motivo para perdoá-lo. – É por aqui – falou Colherada. O letreiro de pedra em frente ao que parecia ser um empreendimento recém-construído dizia CONDOMÍNIO PREMA. Tudo ali anunciava a presença de novos-ricos. As ruas eram bem iluminadas. Os gramados só poderiam ser mais verdes se fossem pintados. O projeto paisagístico era quase perfeito demais, como um espetáculo mais ensaiado do que a encomenda. As mansões imensas eram de tijolo e pedra, provavelmente para dar um ar de antiguidade à sua imponência, mas passavam longe disso. Quando chegamos ao ponto mais alto do bairro, olhei para baixo, em direção à casa da família Kent e senti uma dor no coração. Quatro viaturas, todas com as luzes girando, estavam paradas em frente à propriedade. Pior, havia uma ambulância na entrada para carros. Comecei a correr. Embora fosse bem menor que eu, Colherada acompanhou meu ritmo. Havia policiais no gramado. Um deles fazia anotações enquanto conversava com o que supus ser um vizinho. A porta de entrada da casa dos Kent estava aberta. De onde eu estava, já conseguia ver um vestíbulo, um candelabro grande e um policial montando guarda. Quando chegamos ao meio-fio, Colherada parou. Eu, não. Segui correndo em direção à porta. O policial plantado ali se virou, surpreso, e gritou: – Pare! Eu obedeci. – O que aconteceu? – perguntei a ele. Colherada apareceu do meu lado. O policial fechou a cara, em sinal de reprovação. A boca não foi a única coisa a se contrair. Seu rosto inteiro acompanhou a expressão. Ele tinha monocelha e testa de homem de Cro-Magnon. Elas também se contraíram. Ele olhou para Colherada e depois de volta para mim. – Quem é você? – Sou amigo de Ashley – respondi. Ele cruzou os braços sobre o peito largo o suficiente para servir de quadra de squash. – Eu pedi uma lista dos seus amigos – falou ele com um suspiro gigantesco – ou perguntei quem você é? Putz. – Meu nome é Mickey Bolitar. Isso fez a sobrancelha dele saltar para cima. – Espere um instante. Você é filho do Myron? Ele falou o nome de Myron como se estivesse cuspindo algo muito ruim. – Não, sou sobrinho. Se o senhor pudesse me dizer... – E eu tenho cara de bibliotecário? – Como? – De bibliotecário, ora. Você acha que eu estou aqui para responder às suas perguntas, como um bibliotecário? Olhei para Colherada. Ele encolheu os ombros. Eu disse: – Não, não acho que o senhor seja um bibliotecário. – Está dando uma de espertinho? – Eu? Não. Ele balançou a cabeça. – Engraçadinho. Igual ao tio. Fiquei tentado a dizer que também não gostava de Myron. Imaginei que isso pudesse nos aproximar, como se eu tirasse um espinho de sua pata, mas, independentemente de como eu me sentia em relação ao meu tio, não estava disposto a botar o nome da família na boca do sapo para agradar ao Sr. Cro-Magnon. – Senhor – chamou Colherada. O homem de uniforme o encarou com um olhar duro. – O que foi? – O senhor está sendo grosseiro. Putz. – O que você disse? – O senhor é um funcionário público. E está sendo grosseiro. Cro-Magnon inflou o peito de modo a deixá-lo bem na frente do rosto de Colherada. Meu colega não recuou. Cro-Magnon o encarou mais diretamente e estreitou os olhos. – Espere um instante. Eu conheço você. Foi detido ano passado, não foi? Duas vezes. – E libertado – falou Colherada. – Duas vezes. – É, eu me lembro. Seu pai quis nos processar por prisão indevida ou alguma babaquice do tipo. Você é filho daquele velhote zelador, não é? – Sou. – Então – falou Cro-Magnon, com uma risadinha de desdém –, seu pai ainda ganha a vida limpando latrinas? – Claro, é o trabalho dele – falou Colherada, empurrando os óculos para cima. – Latrinas, pias, pisos... o que for preciso. A resposta tão sincera desconcertou o policial. Eu me apressei a interromper: – Olhe, não estamos aqui para causar problemas. Só quero saber se minha amiga está bem. – Muito heroico – falou ele, voltando-se para mim. Foi quando consegui ler seu nome: Taylor. – Como o seu tio – completou Taylor, colocando a mão no quadril da forma mais teatral possível. – Estranho vocês dois estarem tão tarde na rua num dia de aula. Tentei não fazer uma careta. – São oito da noite. – Está bancando o espertinho de novo? Eu tinha que passar por aquele cara. – Talvez fosse melhor vocês dois virem comigo. – Para onde? Taylor aproximou tanto o seu rosto do meu que eu poderia ter mordido seu nariz. – Que tal uma cela de prisão, sabe-tudo? Gostou da ideia? – Não – respondeu Colherada. – Bem, é onde vocês vão parar se não começarem a responder minhas perguntas. Tem uma lá em Newark que eu acho que vai ser perfeita para vocês. Posso botar os dois em celas separadas. Detentos adultos. Um dos presos de lá tem uns 2,15m de altura e unhas bem longas, porque, bem, ele gosta de arranhar coisas. O policial sorriu. Colherada engoliu em seco. – O senhor não pode fazer isso – disse ele. – Ah, o neném vai chorar? – Nós somos menores – falou Colherada. – Antes de nos prender, o senhor precisa contatar nossos pais ou tutores. – Não vai dar – falou Taylor, com um sorriso maldoso. – Seu pai está ocupado demais escovando latrinas. – Ele não usa escova – retrucou Colherada. – Usa a cara da sua mãe. Putz. Algo pareceu explodir por trás dos olhos de Taylor. Seu rosto ficou vermelho. Achei que ele podia estar tendo um derrame. Ele cerrou os punhos. Colherada ficou parado onde estava e apenas empurrou os óculos para trás. Pensei que Taylor fosse lhe dar um soco. Talvez fosse, mas então uma voz gritou: – Abram caminho, estamos passando. Cro-Magnon se afastou para um lado da porta e nós, para o outro, liberando a passagem para uma maca. Havia um homem nela. Seu rosto estava machucado, mas ele continuava consciente. Algumas manchas de sangue cobriam o colarinho da camisa social branca. O pai de Ashley, talvez? Aparentava ter uns 40 e poucos anos, e uma mulher mais ou menos da mesma idade vinha atrás dele. Seu rosto estava branco como papel. Agarrava-se à sua bolsa como se ela pudesse lhe trazer algum consolo. Ela parou, desnorteada. – Quem são esses dois? – perguntou a Taylor. – Nós, hã, os encontramos vagabundeando pela área – disse Taylor. – Pensamos que talvez pudessem ser os criminosos. A Sra. Kent ficou nos olhando por alguns instantes, como se fôssemos peças de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. – Eles são crianças – falou ela. – Sim, eu sei, mas... – Eu lhe disse que foi um homem. Falei que tinha uma tatuagem no rosto. O senhor está vendo alguma tatuagem no rosto de algum desses meninos? – Eu estava apenas eliminando... – balbuciou Taylor. Mas ela já havia ido embora, tentando alcançar a maca. Taylor disparou outro olhar na nossa direção. Por incrível que pareça, Colherada lhe fez um sinal de positivo com o polegar. Estava novamente com uma expressão indecifrável no rosto, de modo que não dava para saber se estava tirando onda da cara do policial ou sendo sincero. Levando em conta o que tinha dito sobre a mãe dele, imaginei que fosse a primeira opção. – Sumam daqui – falou Taylor. Nós voltamos pelo caminho de tijolinhos. O homem que eu supunha ser o pai de Ashley estava acomodado na traseira da ambulância. Um policial falava com a Sra. Kent. Outros dois conversavam perto de nós. Ouvi as palavras “invasão de domicílio” e senti um aperto no peito. Era agora ou nunca. Corri até lá antes alguém pudesse me impedir. – Sra. Kent? Ela parou e me encarou, franzindo a testa. – Quem é você? – Meu nome é Mickey Bolitar. Sou amigo de Ashley. Ela ficou calada por um instante. Seu olhar se desviou para a direita e então voltou para mim. – O que você quer? – Só quero saber se ela está bem. Quando a mulher balançou a cabeça, senti meus joelhos fraquejarem. Mas então a Sra. Kent disse algo que eu jamais poderia esperar: – Quem? – Ashley – falei. – Sua filha. – Eu não tenho filha. E não conheço nenhuma Ashley.
Capítulo 5
AS PALAVRAS DELA me paralisaram. A Sra. Kent entrou na ambulância e os policiais nos expulsaram dali. Quando chegamos à entrada do condomínio, Colherada e eu nos separamos e seguimos para nossas casas. No caminho, telefonei para o Instituto Coddington de Reabilitação, mas disseram que minha mãe estava numa sessão e que já era tarde demais para falar com ela ou visitá-la. Não tinha problema. De qualquer forma, ela iria para casa na manhã seguinte. O carro do tio Myron, um Ford Taurus, estava na entrada de casa. Quando abri a porta da frente, Myron me chamou: – Mickey? – Dever de casa – falei, correndo para meu quarto no porão. Durante muitos anos, incluindo a época em que meu tio cursava o ensino médio, o porão tinha sido o quarto dele. Nada ali havia mudado desde então. O revestimento de madeira era vagabundo e colado com fita dupla face. Havia um pufe que soltava bolinhas do enchimento. Pôsteres desbotados de grandes jogadores de basquete da década de 1970 – como John “Hondo” Havlicek e Walt “Clyde” Frazier – decoravam as paredes. Confesso que aquilo eu adorava. A maior parte do quarto tinha um estilo retrô lamentável, mas ter Hondo e Clyde na parede era maneiro. Fiz meus exercícios de matemática. Não que eu desgostasse da matéria, mas existe algo mais chato do que dever de matemática? Li um pouco de Oscar Wilde para a aula de inglês e estudei vocabulário para a de francês. Depois preparei um cheesebúrguer para mim. Será que a Sra. Kent teria mentido? E por quê? Não conseguia pensar em um motivo para isso, o que me conduzia à pergunta seguinte: Será que Ashley teria mentido para mim? E por quê? Tentei imaginar possíveis motivos, mas nada me veio à mente. Depois de comer, peguei a bola de basquete, acendi as luzes do lado de fora e comecei a arremessar. Eu faço isso todos os dias. Penso melhor quando estou fazendo arremessos. A quadra é meu refúgio e meu paraíso. Adoro basquete. Adoro a maneira como você pode estar exausto, suado e correndo com mais nove caras e ainda assim (sei que corro o risco de parecer zen demais ao dizer isso) continuar maravilhosamente sozinho. Quando estou numa quadra, nada me incomoda. Eu vejo as coisas alguns segundos antes de elas acontecerem de fato. Adoro prever o movimento de um colega de time e então passar a bola para ele entre dois adversários. Adoro pegar rebote, dar toco, descobrir ângulos, ter a bola nas mãos. Adoro driblar sem olhar para baixo e a sensação de confiança e de controle que isso dá, quase como se a bola estivesse numa coleira. Adoro receber um passe, fixar meus olhos no aro, deixar os sulcos da bola correrem entre meus dedos, erguê-la sobre a cabeça e dobrar o punho enquanto começo a saltar. Adoro arremessar quando estou no auge do salto, a maneira como as pontas dos meus dedos permanecem no couro até o último instante possível, o jeito como retorno lentamente ao chão, a bola descreve um arco em direção à cesta e a rede dança recebendo-a de xuá. Agora eu me movia de um lado para o outro, fazendo arremessos, pegando rebotes, mudando de posição. Bolava partidas na minha cabeça, fingindo que LeBron James, Kobe Bryant ou mesmo Clyde e Hondo estavam me dando cobertura. Cobrava lances livres enquanto o locutor na minha cabeça anunciava que eu, Mickey Bolitar, tinha dois arremessos e minha equipe estava perdendo por um ponto, que o tempo regulamentar já havia acabado e aquela era a partida decisiva das finais da NBA. Eu delirava e me deixava levar pela empolgação. Já estava arremessando havia uma hora quando a porta dos fundos se abriu e tio Myron apareceu. Ele não disse nada. Apenas foi para debaixo da cesta e começou a pegar os rebotes e mandar a bola para mim. A cada arremesso eu me deslocava cerca de um metro a mais, descrevendo um semicírculo que começava no lado direito e terminava na extremidade oposta. Myron simplesmente devolvia os rebotes. Ele entendia a importância do silêncio naquele momento. De certo modo, aquele espaço era sagrado como uma igreja, e nós o respeitávamos. Então ele deixou rolar por um tempo. Quando sinalizei que queria dar uma parada, ele falou pela primeira vez. – Seu pai costumava fazer isso comigo – disse. – Eu arremessava, ele pegava o rebote. Meu pai fazia o mesmo comigo, mas eu não estava a fim de compartilhar isso. Os olhos de Myron se encheram de lágrimas. Isso acontecia bastante. Ele era emotivo demais. Estava sempre tentando trazer o assunto “meu pai” à tona. Quando passávamos de carro por um restaurante chinês, ele dizia: “Seu pai adorava o bolinho de porco daqui.” Ou então, quando passávamos pelo campo de beisebol da liga infantil: “Eu me lembro de quando seu pai tinha 9 anos e conseguiu uma rebatida dupla automática que fez o time ganhar a partida.” Eu nunca respondia nada. – Uma noite – prosseguiu Myron –, seu pai e eu estávamos batendo bola aqui. Sabe aquela brincadeira em que quem erra um arremesso recebe uma letra de uma palavra pré-combinada? Bem, a nossa palavra tinha cinco letras e a partida se estendeu por três horas. Imagine só. No final, concordamos em decretar empate, porque já estávamos empacados havia meia hora, os dois esperando que o outro errasse e completasse a palavra. Trinta minutos sem parar. Você devia ter visto. – Nossa, que empolgante – falei no meu tom de voz mais monocórdio. Myron riu. – Meu Deus, como você é marrento. – Não, estou falando sério. Brincando de soletrar enquanto faziam arremessos? Você e papai deviam ser figurinhas certas em todas as festas da cidade. Myron riu um pouco mais e então nós dois ficamos em silêncio. Eu estava começando a andar em direção à porta quando ele disse: – Mickey? Eu me virei para ele. – Vou levar você e sua mãe de carro amanhã de manhã. Depois deixarei vocês sozinhos. Eu meneei a cabeça para agradecer. Myron pegou a bola de basquete e começou a arremessar. Era o refúgio dele também. Pouco tempo atrás, encontrei no YouTube o vídeo da partida em que ele se lesionou. Myron estava com a camisa do Boston Celtics e um short curto horrível, do modelo que se usava na época. Estava apoiado na perna direita quando Burt Wesson, um brutamontes do Washington Bullets, se chocou contra ele. A perna de Myron entortou de uma maneira que jamais deveria entortar. Mesmo num vídeo antigo, deu para ouvir o estalo. Eu fiquei observando-o por mais alguns segundos, notando as semelhanças espantosas em nossos arremessos, na maneira como soltávamos a bola durante o salto. Quando já estava entrando em casa, um pensamento me fez parar. Depois da lesão, Myron tinha se tornado agente esportivo. Foi assim que meus pais se conheceram: Myron iria representar Kitty Hammer, a adolescente que era a grande promessa do tênis na época – depois também conhecida como minha mãe. Com o tempo, Myron passou a representar não só atletas, mas também pessoas envolvidas com arte, teatro, música. Chegou até a ser o agente do astro do rock Lex Ryder, da dupla que formava a banda HorsePower. Mamãe conhecia o HorsePower. Papai também. Myron era agente da banda. E dona Morcega tinha na vitrola o primeiro disco deles, que já devia ter saído há uns 30 anos. Eu me virei para Myron. Ele parou de arremessar e olhou para mim. – O que foi? – Você sabe alguma coisa sobre dona Morcega? – perguntei. Ele franziu a testa. – A da casa velha na esquina da Pine com a Hobart Gap? – Isso. – Nossa. Dona Morcega. Ela só pode estar morta. – Por que você diz isso? – Sei lá. Nem acredito que as crianças ainda inventem histórias a respeito dela. – Que tipo de história? – Ela era o bicho-papão da cidade – disse ele. – Diziam que ela raptava crianças, que as pegava na calada da noite, esse tipo de coisa. – Você já a viu alguma vez? – perguntei. – Eu? Não. Myron girou a bola nos dedos, me encarando com uma firmeza meio exagerada. – Mas acho que seu pai, sim. Eu me perguntei se essa não seria mais uma tentativa de Myron de falar sobre meu pai, mas não, esse não parecia ser o estilo dele. Meu tio podia ser muitas coisas, mas não mentiroso. – Pode me contar como foi? Dava para notar que Myron queria perguntar por que, mas que também não queria estragar aquele momento. Eu não conversava muito com ele e, quando conversava, nunca era sobre meu pai. Ele na certa não queria correr o risco de que eu voltasse a me calar. – Estou tentando lembrar – falou ele, esfregando o queixo. – Seu pai devia ter uns 12 anos, talvez 13, não tenho certeza. Enfim, a gente passou em frente àquela casa a vida inteira. Mesmo morando aqui há poucas semanas, você já conhece as histórias a respeito dela, então pode ter uma ideia. Uma outra vez, seu pai e eu, nós éramos muito crianças, ele devia ter uns 7 anos e eu, uns 12, fomos ver um filme de terror no cinema e decidimos voltar andando. Escureceu, começou a chover e nós cruzamos com uns meninos mais velhos. Eles nos perseguiram e começaram a gritar que dona Morcega iria nos pegar. Seu pai ficou tão assustado que começou a chorar. Myron se deteve e desviou o olhar. Ele estava contendo as lágrimas outra vez. – Depois daquela noite, seu pai passou a ter pavor da casa da dona Morcega. Quer dizer, como eu falei, todos nós tínhamos medo, mas seu pai não queria nem passar por lá. Tinha pesadelos. Uma vez fomos dormir na casa de uns amigos e ele acordou gritando que dona Morcega estava indo atrás dele. As crianças caíram na pele do seu pai. Sabe como é. Fiz que sim com a cabeça. – Então, uma noite de sexta-feira, Brad estava na rua com uns amigos. Era o que a gente costumava fazer, simplesmente ficar na rua. Enfim, estava escurecendo, eles estavam entediados, aí uma coisa levou a outra e os tais amigos acabaram desafiando Brad a bater na porta da dona Morcega. Ele não queria, mas não gostava de perder a moral. – E o que aconteceu depois? – Ele foi até a casa de dona Morcega. Estava um breu total, sem nenhuma luz acesa. Os amigos dele ficaram do outro lado da rua, esperando que ele batesse à porta e depois saísse correndo. Bem, ele bateu, mas permaneceu onde estava. Os amigos continuaram lá, para ver se dona Morcega iria atender. Mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, o que eles viram foi seu pai girar a maçaneta e entrar. Eu quase engasguei. – Sozinho? – Sim, senhor. Seu pai sumiu lá dentro e os amigos ficaram esperando que ele saísse. Esperaram um tempão e nada de ele voltar. Por fim, chegaram à conclusão de que Brad estava pregando uma peça neles, de que a casa estava vazia e seu pai teria saído às escondidas pelos fundos, tentando assustá-los. Eu me aproximei um passo de Myron. – E depois? – Um dos amigos do seu pai, Alan Bender, bem, ele não engoliu essa. Quando haviam se passado duas horas sem Brad voltar, ele ficou apavorado. Veio correndo até a nossa casa para pedir ajuda ou pelo menos contar para alguém. Ele chegou sem fôlego e com os olhos arregalados. Eu estava aqui nos fundos fazendo meus arremessos, como hoje. Alan então me disse que tinha visto Brad entrar na casa de dona Morcega e que não tinha saído mais. – A vovó e o vovô estavam em casa? – Não, estavam jantando fora. Era noite de sexta. Não havia telefones celulares na época, então voltei correndo com Alan. Comecei a esmurrar a porta de dona Morcega, mas ninguém vinha atender. Alan tinha dito que viu seu pai simplesmente girar a maçaneta e entrar. Tentei fazer o mesmo, mas a porta estava trancada. Tive a impressão de escutar música tocando lá dentro. – Música? – Sim. Foi muito esquisito. Comecei a pirar. Tentei arrombar a porta na base do chute, acredite, mas ela não se moveu. Mandei Alan ir correndo até a casa do vizinho e pedir que ligassem para a polícia. Então, assim que ele começou a se afastar, a porta se abriu e seu pai saiu andando lá de dentro. Sem mais nem menos e parecendo supertranquilo. Perguntei se ele estava bem e ele respondeu “sim, claro”. – O que mais ele disse? – Só isso. – Você não perguntou o que ele ficou fazendo lá durante duas horas? – Claro que perguntei. – E? – Ele não contou. Os cabelos na minha nuca se eriçaram. – Nunca? Myron balançou a cabeça. – Nunca. Mas algo aconteceu ali. Algo importante. – Como assim? – Ele ficou diferente depois disso, o seu pai. – Em que sentido? – Não sei. Mais reflexivo, talvez. Mais maduro. Na época, achei que fosse só por ter enfrentado seus medos. Mas talvez tenha sido mais que isso. Algumas semanas atrás, seu avô me disse que sempre soube que seu pai iria embora, que ele havia nascido para ser nômade. Eu nunca engoli isso direito. Mas acho que essa história, essa sensação de que seu pai estava destinado a vagar pelo mundo, começou depois que ele esteve na casa de dona Morcega.
Capítulo 6
NÃO FOI FÁCIL DORMIR aquela noite. Fiquei pensando em dona Morcega, em Ashley e, acima de tudo, pensei em minha mãe, que voltaria para casa pela manhã. Às sete, Myron me levou até o Instituto Coddington de Reabilitação. Eram só 10 minutos de carro, mas a viagem pareceu 10 vezes mais longa. Quando chegamos, saltei do carro antes mesmo de ele parar. Myron gritou que ficaria esperando ali. Ergui a mão e fiz um sinal de obrigado enquanto corria. O segurança chamou meu nome e me cumprimentou com um meneio de cabeça enquanto eu passava voando por ele. Todos me conheciam ali. Eu visitava minha mãe todos os dias, a não ser quando alguma regra da instituição me proibia. Christine Shippee era a dona do centro, mas também gostava de trabalhar na recepção. Seu rosto tinha um ar rabugento permanente e, através da janela de acrílico altamente resistente, ela olhava de um jeito firme para todos que passavam. Meneei a cabeça para ela e disparei pelo lobby, que me fazia pensar em hotéis chiques. Parei diante da porta, para que Christine apertasse o botão e me deixasse entrar onde ficavam os pacientes, mas ela não fez isso. Fui andando até onde ela estava sentada. Ela me analisou por alguns instantes. – Bom dia, Mickey. – Bom dia, Sra. Shippee. – Grande dia – disse ela. – É. – Eu já lhe avisei sobre os riscos. – Avisou. – E já falei também sobre como as chances de recaída são relativamente altas. – Várias vezes. – Maravilha – concluiu, encarando-me por sobre seus óculos de leitura. – Então não preciso repetir. – Nem um pouco. Ela apontou com a cabeça em direção à porta. – Vá. Sua mãe está esperando. Tentei não sair correndo outra vez; então fui trotando pelo corredor. Quando entrei no quarto e vi minha mãe, não pude conter o sorriso. Ela estava ótima. Havia passado as últimas seis semanas trancada naquele lugar alimentando-se direito, fazendo desintoxicação, terapia individual e em grupo, caminhadas com meditação, exercícios. Um dia antes de Myron levá-la para lá, minha mãe tinha ido tarde da noite a um bar horroroso para conseguir uma dose. Tive que usar minha identidade falsa (sim, eu tenho uma muito boa) para entrar lá. Eu a encontrei junto com um cara imundo, os dois meio desmaiados, jogados num canto. Agora que o veneno tinha sido retirado de seu organismo, ela parecia... bem, era minha mãe outra vez. Kitty (por algum motivo, ela preferia que eu a chamasse assim, o que eu nunca fazia) me abraçou e então tomou meu rosto em suas mãos. – Eu te amo tanto – disse ela. – Eu também te amo. Ela deu uma piscadela e indicou a porta com um gesto. – Vamos dar o fora daqui antes que eles mudem de ideia. – Boa. Minha mãe se chamava Kitty Hammer e, como contei anteriormente, se esse nome lhe diz alguma coisa, você deve ser um grande fã de tênis. Aos 16, Kitty era a tenista número um do ranking juvenil dos Estados Unidos. Mamãe estava a caminho de se tornar a próxima Venus Williams, Billie Jean King ou Steffi Graf. Só que aconteceu uma coisa que arruinou sua carreira para sempre. Ela ficou grávida deste que vos fala. Imagino que o mundo não estivesse preparado para o relacionamento dos meus pais, então eles fugiram. Todo mundo dizia que o casamento deles não duraria muito. Estavam errados. Papai e mamãe viveram a história de amor mais melosa que já existiu – o que, à medida que eu ia crescendo, me deixava cada vez mais constrangido. Era o tipo de amor que fazia as pessoas sentirem inveja... ou se encolherem, nauseadas. Antes eu desejava um dia encontrar um amor como esse. E quem não deseja? Mas, agora não. O problema de um amor tão intenso como o deles é o que acontece quando um dos dois fica só. Um sentimento como o que uniu meus pais transforma duas pessoas numa só. Então, quando meu pai morreu, foi como se minha mãe tivesse sido rasgada ao meio. Ela ficou destruída. Depois que sepultamos meu pai, eu a vi desmoronar como se fosse uma marionete e alguém tivesse de repente cortado suas cordas, sem que eu pudesse fazer nada. Isso tudo me serviu de lição: agora sei que esse amor de conto de fadas não é para mim. O preço que se paga por ele é alto demais. Por mais que gostasse muito de Ashley (e por mais que me importasse com ela e tivesse adorado o tempo que passamos juntos), eu jamais deixaria que ela ou qualquer outra garota assumisse um papel importante demais na minha vida. Talvez ela tenha percebido isso. Talvez por isso tenha ido embora sem me dizer nada. Talvez por isso eu devesse parar de procurá-la. Meu tio nos esperava perto do carro. Fiquei tenso enquanto nos aproximávamos. Dizer que o relacionamento entre minha mãe e ele era difícil seria pouco. Eles basicamente se odiavam. Seis semanas atrás, Myron havia ameaçado me tirar dela se mamãe não concordasse em iniciar um tratamento intensivo de reabilitação. Então fiquei surpreso quando ela andou até meu tio e lhe deu um beijo de leve na bochecha. – Obrigada. Ele só balançou a cabeça, sem falar nada. Minha mãe sempre fora assustadoramente sincera comigo. Quando ficou grávida de mim, ela mal tinha completado 17 anos e meu pai tinha 19. Myron achou que ela havia feito isso de propósito, para prender o namorado. Chamou-a de várias coisas nada agradáveis e chegou até a dizer a meu pai que o bebê (ou seja, eu) provavelmente nem era dele. O resultado foi uma briga que afastou os dois irmãos de tal forma que eles jamais voltariam a se falar. Eu sabia de tudo isso porque mamãe havia me contado. Ela nunca perdoou Myron pelas coisas que ele disse a seu respeito. Mas ali estava ela, recém-saída da reabilitação, deixando o passado para trás e surpreendendo nós dois – o que talvez fosse o melhor sinal de todos. Conforme prometera, Myron apenas nos deixou em casa e foi embora. – Vou estar no escritório se precisarem – falou ele. – Qualquer coisa, o outro carro está na garagem. – Obrigada – falou mamãe. – Obrigada por tudo. Myron havia preparado um quarto para minha mãe no escritório do primeiro andar. Eu continuaria no porão e meu tio, no quarto principal do segundo piso. Antes de eu entrar na vida dele, Myron passava quase todas as noites em um famoso prédio residencial em Manhattan. Eu esperava que, com minha mãe em casa, ele retomasse essa rotina e nos desse um pouco de privacidade até conseguirmos nos restabelecer e encontrar um lugar só para nós. Mamãe entrou quase saltitando no seu quarto. Quando viu as roupas estendidas em cima da cama, virou-se para mim com um sorriso e perguntou: – O que é isso? – Comprei algumas coisas pra você. Não era nada de mais. Algumas calças jeans e umas blusas de uma loja de departamentos. Só para ela ter algo para começar. Ela se aproximou e me deu um abraço. – Sabe de uma coisa? – falou para mim. – O quê? – Acho que vamos ficar bem. Eu me lembrei de quando tinha 12 anos. Mamãe, papai e eu estávamos passando três meses em Gana. Eles trabalhavam para o Abrigo Abeona, uma instituição que fornecia alimentos e cuidava de crianças pobres e em situação de risco. Meu pai costumava viajar por dois ou três dias seguidos, partindo para regiões ainda mais remotas. Uma noite, quando ele estava fora, acordei com febre alta e calafrios. Fiquei tão mal que achei que fosse morrer. Minha mãe me levou correndo para o hospital. Acabaram descobrindo que eu estava com malária. Eu me sentia fraco e grogue e tinha certeza de que não iria sobreviver. Mamãe passou três dias inteiros sem sair do meu lado. Ela segurava minha mão e repetia o tempo todo que eu iria ficar bem. Foi seu tom de voz que me fez acreditar nisso. Eu ouvia esse mesmo tom agora. – Eu sinto muito – disse mamãe. – Não faz mal – falei. – Pelo que fiz. Pelo que me tornei... – Já viramos essa página. O que ela não entendia era o seguinte: mamãe tinha cuidado de mim durante a minha vida inteira. Eu não via o menor problema em inverter os papéis por um tempo. Ela começou a desfazer as malas, assobiando. Perguntou como andava a escola e o basquete. Respondi apenas o básico. Não queria preocupá-la, então não contei sobre Ashley e muito menos sobre dona Morcega e o que tinha dito sobre meu pai estar vivo. Não me leve a mal, eu queria dividir tudo isso com ela. Como já disse, mamãe era absurdamente franca comigo. Só que isso não era o tipo de coisa que se conte para uma pessoa no dia em que ela sai da reabilitação. Era melhor esperar. Meu telefone vibrou. Baixei os olhos para ver quem estava ligando. Era Colherada, sua terceira ligação naquela manhã. – Por que você não atende? – falou mamãe. – É só uma pessoa da escola. Ela gostou de ouvir isso. – Um amigo novo? – Acho que sim. – Não seja mal-educado, Mickey. Atenda. Foi o que eu fiz, saindo para o corredor. – Alô. – Só os perus machos gorgolejam – anunciou Colherada. – As fêmeas fazem um som mais parecido com um clique. Era para isso que ele tinha telefonado três vezes? Putz. – Legal, Colherada, mas estou meio ocupado agora. – A gente se esqueceu do armário da Ashley – disse Colherada. Eu troquei o celular de mão. – O que tem ele? – Ashley tinha um armário na escola, não tinha? – Tinha. – Pode haver alguma pista dentro dele. Genial, pensei. Mas não queria deixar mamãe sozinha. – Já ligo de volta – falei, apertando o botão para encerrar a chamada. Quando voltei para o quarto, mamãe perguntou: – O que era? – Só um negócio que está rolando lá na escola. – O quê? – Nada importante. Ela olhou para o relógio. Eram oito e meia. – Você vai se atrasar. – Pensei em passar o dia com você – falei. Mamãe arqueou uma sobrancelha. – E perder aula? Ah, não, senhor. Não se preocupe. Tenho um monte de coisas para fazer. Preciso comprar mais algumas roupas, ir ao mercado para poder fazer nosso jantar e ainda voltar para Coddington à tarde para a terapia de pacientes externos. Vamos, eu levo você de carro. Eu não tinha como protestar, então peguei minha mochila. Mamãe colocou o rádio na estação de música pop e ficou cantando junto baixinho. Normalmente aquela cantoria desafinada e empolgada me fazia revirar os olhos. Mas não hoje. Eu me sentei ao seu lado, fechei os olhos e fiquei apenas ouvindo. Pela primeira vez em muito tempo me permiti ter esperanças. Aquela mulher que estava me levando para a escola era minha mãe. A viciada que tínhamos deixado na clínica seis semanas antes não era ela. Isto ninguém conta: as drogas não só mudavam minha mãe, mas roubavam a personalidade dela, transformando-a em algo que ela não era. Paramos em frente à escola. Eu não queria deixá-la sozinha, mas ela me disse outra vez que eu não me preocupasse. – Vou ao supermercado agora – falou ela. – Depois vou preparar simplesmente o melhor jantar de toda a história mundial para nós dois. Mamãe era uma excelente cozinheira. Tinha aprendido a preparar vários tipos de pratos exóticos durante os anos que tínhamos passado em lugares igualmente exóticos. – O que você vai fazer? Ela se inclinou para perto de mim, com um ar conspiratório: – Espaguete com almôndegas. Nossa, como era bom ouvir isso! A escolha perfeita. Seu espaguete com almôndegas, como ela bem sabia, era meu prato favorito. Não conseguia pensar em uma comida mais reconfortante. Ela tomou meu rosto em suas mãos. Sempre fazia isso, segurar meu rosto. – Eu te amo tanto, Mickey. Quase chorei ali mesmo. – Eu também te amo, mamãe. Fiz menção de sair do carro, mas ela pousou a mão no meu braço. – Espere – disse ela, remexendo dentro da bolsa e procurando algo. –Vai precisar de um bilhete, não? Por estar atrasado. Então escreveu algo. Quando saí do carro, ela foi embora, sorrindo e acenando. Qualquer um que estivesse olhando pensaria que era apenas mais uma mãe deixando seu filho na escola.
Capítulo 7
FUI ENCONTRAR COLHERADA logo depois do almoço. – Veja só isso – disse ele. Ele me entregou um artigo de jornal que havia imprimido. Pensei que fosse sobre os sons que os perus fazem ou sobre a Beyoncé, mas não, era uma pequena matéria sobre a “tentativa de assalto” à casa da família Kent na noite anterior. Segundo a polícia, um homem tinha arrombado a casa e começado a saqueá-la quando percebeu que o Sr. Kent estava no local. O invasor o atacou, mas fugiu quando a Sra. Kent chegou. O Sr. Kent sofreu apenas lesões superficiais. Já havia recebido alta do hospital. A investigação estava em andamento. Eu continuava sem entender. Os Kent tinham ou não tinham uma filha? Talvez devesse fazer outra visita à casa deles. – Onde fica o armário dela? – perguntou Colherada. Eu lhe mostrei. No caminho, Colherada separou a chave. – Precisamos ser rápidos – disse ele. – Você bloqueia a linha de visão. Não quero que ninguém saiba que posso abrir os armários dos outros. Eu assenti. Mas, quando fizemos a curva e nos aproximamos do armário de Ashley, logo vi que havia algo errado. Colherada parou e olhou para mim. O cadeado do armário dela havia sido arrombado. Eu não sabia o que fazer. Os alunos passavam por nós distraídos, correndo para o almoço ou para a aula seguinte. Estendi a mão para abrir o armário e ver o que havia dentro, quando notei que alguém estava me olhando. Eu me virei e senti o bombardeio silencioso dos olhos dela. Era Rachel Caldwell. O que eu vou dizer agora certamente não é uma notícia que vá abalar o mundo, mas garotos agem de forma estranha perto de garotas bonitas de verdade. Rachel podia contar a piada mais sem graça que, mesmo assim, todos os meninos se escangalhavam de rir. Bastava ela oferecer seu sorriso mais discreto para encher a cabeça de um garoto com sonhos que durariam a noite inteira. Eu gostava de pensar que estava acima desse tipo de coisa. Até onde eu sabia, Rachel era tão inteligente quanto um bolo de banana. Mas, assim que nossos olhares se cruzaram, senti minha garganta ficar seca. Ela veio em nossa direção. – Oi – falou. Colherada lambeu a própria mão, deu uma ajeitada no topete e lançou um olhar 43 para Rachel. – Você sabia – disse ele – que polvos não transmitem raiva? Rachel sorriu ao ouvir isso. – Você é fofo. Colherada se derreteu e quase caiu para trás. Ela se virou e cruzou seu olhar com o meu novamente. – O que você está fazendo? Encolhi os ombros e soltei a primeira frase que diria para Rachel Caldwell, a gostosa da escola: – Hã, nada. O Sr. Irresistível ataca novamente. Rachel tornou a olhar para mim e depois para o armário. Por um instante achei que ela fosse falar mais alguma coisa. Em vez disso, deu uma última avaliada no armário e saiu andando pelo corredor. Colherada e eu ficamos observando enquanto ela se afastava. Andava de um jeito que eu vou lhe contar... – Já podem parar de babar. Era Ema. – Oi – falei. – Homens – disse Ema, balançando a cabeça. – Ou melhor, garotos. Colherada se virou e ficou encarando-a. Ela fez uma careta para ele: – Qual o seu problema? Colherada lambeu a própria mão, deu uma ajeitada no topete e lançou um olhar 43 para ela. – Você sabia – disse ele – que polvos não transmitem raiva? – Seu anormal! Colherada encolheu os ombros olhando para mim: – Funcionou uma vez. Então pensei... – Já entendi – interrompi. – O que vocês dois estão fazendo? – perguntou ela. Não me dei o trabalho de responder. Em vez disso, abri o armário. Nenhuma surpresa: estava vazio. O sinal tocou e estávamos oficialmente atrasados para o almoço; então corremos para o refeitório. Eu entrei na fila. Colherada pediu licença e foi embora. Peguei duas fatias de pizza de calabresa e uma maçã: leite, proteína, carboidrato e, se você contasse o molho de tomate, dois tipos de vegetais. Fui até a mesa em que Ema estava sentada sozinha. – Bolitar! Olhei para o outro lado do refeitório para ver quem estava gritando meu nome. Buck e Troy. Eles me fuzilaram com o olhar e cerraram os punhos lentamente, exibindo o movimento. – Já sei – disse a eles. – Sou um homem morto. Coloquei minha bandeja ao lado da de Ema. Era o segundo dia consecutivo. Isso já renderia algumas fofocas. Ema desembrulhou seu sanduíche e disse: – Então, qual foi a do armário? Eu estava prestes a responder, quando escutei alguém fazendo barulhos de beijo perto de nós. Quando me virei, vi Buck e Troy com as mesmas jaquetas pesadas de antes. Devia estar fazendo uns 27 graus no refeitório. Fiquei me perguntando se eles dormiam com aquelas roupas. – Ooh – falou Buck. – Não é romântico? – Pode crer – acrescentou Troy. – Dois pombinhos sentados sozinhos. Eles fizeram mais barulhos de beijo. Olhei para Ema, que simplesmente deu de ombros. – Vão começar a se beijar agora, pombinhos? – provocou Buck. – É, vão começar a se pegar no refeitório? – emendou Troy. – Não – respondi. – Isso a gente deixa pra vocês. Os dois ficaram vermelhos como pimentões. Ema conteve um sorriso. Buck abriu a boca, mas eu levantei a mão para interrompê-lo. – Já sei – eu disse. – Sou um homem morto. – Não sabe droga nenhuma – cuspiu Troy. – Você se acha muito esperto, hã? Pois não é. – Bom saber – respondi. Buck se juntou a ele: – Você é novo por aqui, então vamos lhe dar uma dica. Está sentado com uma perdedora. – É, uma perdedora – acrescentou Troy. Dei uma mordida em minha pizza. – Ela já contou como ganhou seu apelido? – insistiu Buck. Eu olhei para Ema. Ela fez um gesto indicando que eu o deixasse continuar. – Foi o seguinte: um dia ela estava botando a maior banca de emo na aula de espanhol, sacou? E ela é uma garota, baranga pra caraca, mas uma garota... Eu estava prestes a me levantar, mas Ema simplesmente balançou a cabeça. – ...certo, não era um cara, então, um de nós dois... Na verdade, acho que foi Troy, não foi? Foi você, Troy? – Isso aí, Buck – confirmou Troy, inflado de orgulho. – Fui eu. A essa altura, os dois já estavam dando risadinhas. – Aí, no meio da aula, o Troy falou do nada, sem nem parar pra pensar: “Essa baranga não é emo, ela é Ema.” Sacou? – Saquei – respondi. – Porque, tipo, a gente estava na aula de espanhol e tem esse negócio de usar feminino e masculino. Tem “a” ou “o” no final de todas as palavras, aí Troy inventou essa do nada e, tchum, pegou. Eu assenti: – Vocês são os caras. Colherada apareceu e colocou sua bandeja em frente à de Ema. Buck e Troy não conseguiram acreditar na própria sorte. – Não acredito! Você vai sentar aqui também? – disse Buck. Ele fingiu fincar uma bandeira no chão. – Eu declaro esta mesa a Cidade dos Perdedores. Mais risadinhas. – Cidade dos Perdedores, Estados Unidos da América – disse Troy. – Estados Unidos da América? – falei. – Por quê? Para o caso de a gente não saber em que país está? Eu estava de novo a ponto de me levantar, mas Ema colocou a mão no meu braço. – Ei, Buck – falou Ema –, por que você não conta ao Mickey como você ganhou o apelido de “Bebê Mijão”? – Hã? Eu nunca tive esse apelido! – É claro que tem. Troy, você também nunca deve ter ouvido falar disso, mas é a mais pura verdade. Foi o seguinte: quando Buck estava na quarta série, ele foi a uma festa de aniversário na minha casa... – Eu nunca fui à sua casa! Nem sei onde você mora! – E Buck teve um pequeno acidente... – É mentira! Troy lançou um olhar esquisito para o colega: – Como é que é? – Ela está mentindo, Troy! Retire o que disse, sua pu... A Sra. Owens apareceu. – Algum problema aqui? Todos se calaram. Então, depois de um monte de “Não, Sra. Owens”, Buck e Troy sumiram. Olhei para Ema: – Bebê Mijão? Ela encolheu os ombros. – Pura invenção minha. Putz, aquela garota era demais. – Sério? Então a parte sobre a festa de aniversário... – Eu inventei. A história toda. Então nos cumprimentamos com um soquinho. – Querem saber algumas curiosidades sobre Troy? – falou Colherada. Dei outra mordida na pizza. – Claro. – Ele está no último ano e é capitão do time masculino de basquete. Sensacional, pensei. – Só que a coisa mais interessante sobre Troy é o sobrenome dele. – Que é...? – Taylor – falou Colherada com um sorriso. Eu parei no meio de uma mordida. – Taylor? – Isso aí. – Igual ao do policial que ficou no nosso pé na noite passada? – Era o pai dele – disse Colherada. – Na verdade, ele é chefe de polícia. Comanda o departamento inteiro. Duplamente sensacional.
Capítulo 8
PASSEI O DIA INTEIRO preocupado com minha mãe. Trocamos alguns torpedos do tipo “só pra saber se está tudo bem” e ela parecia animada. Quando o sinal de saída tocou, fui para um canto silencioso do lado de fora e liguei para ela. Minha mãe atendeu no terceiro toque. – Oi, Mickey. Quando ouvi o tom cantarolado em sua voz, relaxei na mesma hora. – Onde você está? – Já voltei para casa – disse ela. – Estou preparando seu jantar. – Tudo bem? – Tudo ótimo, querido. Fui ao supermercado. Comprei algumas roupas no shopping. Até comi um pretzel na praça de alimentação. Pode parecer chato, mas na verdade foi um dia maravilhoso. – Que bom. – E a escola? – Tudo bem – respondi. – Então, o que você quer fazer esta tarde? – Tenho terapia das quatro às cinco, lembra? – É verdade. – E hoje não é o dia em que você pega o ônibus para ir ao basquete? Era o dia da semana em que eu ia jogar em Newark. – Geralmente, sim. – E então? – Pensei em faltar desta vez. – Não mude seus planos por minha causa, Mickey. Vá para o seu basquete e eu vou para a minha terapia. Quando você voltar, o espaguete com almôndegas vai estar pronto. Ah, e estou fazendo pão de alho também. Mais uma das minhas comidas favoritas. Eu já estava ficando com água na boca. – Você chega em casa até as seis? – perguntou ela. – Chego. – Ótimo. Eu te amo, Mickey. Eu disse que a amava também e desligamos. A rodoviária ficava na Northvale Avenue, a menos de um quilômetro da escola. No geral, quem pegava o ônibus para Newark àquela hora eram empregadas domésticas exaustas voltando para casa depois de um dia de trabalho nos bairros mais endinheirados. Elas me olhavam de um jeito esquisito, provavelmente se perguntando o que aquele garoto com cara de riquinho estava fazendo na mesma condução que elas. A nobre região de Kasselton, com seus belos gramados, ficava a pouco mais de 10 quilômetros das ruas pobres de Newark, mas as duas cidades pareciam pertencer a planetas diferentes. Dizem que Newark está sendo revitalizada, mas, embora eu perceba alguma coisa sendo feita aqui e ali, o que mais vejo são problemas. A pobreza predomina, mas tenho que ir aonde o melhor basquete está – e você pode até fazer algum comentário sobre preconceito ou segregação racial, mas ainda sou um dos poucos brancos que aparecem por lá depois da escola. As duas quadras estavam com o piso rachado. As cestas haviam enferrujado e tinham redes feitas de correntes, em vez de náilon. A tabela era cheia de marcas e amassados. Comecei a ir lá há cerca de um mês. Fui recebido com desconfiança, é claro, mas isto é o mais maravilhoso do basquete: ou você é bom ou não é. E eu jogo bem (mesmo correndo o risco de parecer convencido ao dizer isso). Ainda recebo uns olhares tortos dos jogadores mais antigos, ainda sou desafiado como um novato, mas isso só serve para me incentivar. Estávamos no meio da quinta partida quando vi algo que me fez parar na mesma hora. Mais cedo, nós tínhamos escolhido os lados. Costumamos usar a quadra inteira, cinco contra cinco. Quem ganha continua jogando e o time perdedor cede a vez. Isso deixa o jogo competitivo. Ninguém quer ir para o banco. Tyrell Waters, um armador da equipe juvenil de basquete da Escola de Ensino Médio Weequahic, é o mais próximo que tenho de um amigo por lá. Ele deve ser o único cara ali com quem me sinto à vontade, principalmente porque não falamos muito, só jogamos. Tyrell surpreendeu muita gente ao me escolher logo de cara, e nosso time ganhou as quatro partidas iniciais com uma facilidade considerável. Na quinta, alguns dos alas tentaram se alinhar nas laterais para dificultar as coisas para nós. Adorei o desafio. Mas foi durante aquela quinta partida que me desconcentrei. Esses jogos atraíam uma plateia surpreendentemente numerosa e variada. Uns mal-encarados da região (segundo Tyrell, muitos deles são membros de gangues) ficavam de longe, olhando fixamente para a quadra. À direita, sempre ficava um grupo de moradores de rua, que vibravam como torcedores de verdade, aplaudindo, vaiando e apostando garrafas de bebida no resultado. Mais perto, apoiados contra a grade com expressões sérias no rosto, ficava uma mistura de técnicos locais, pais participativos, aspirantes a agentes muito suspeitos, olheiros de escolas particulares e até de faculdades. Pelo menos um deles, geralmente mais de um, filmava as partidas para selecionar jogadores. Então, por um instante, quando estávamos voltando para a defesa, olhei por sobre a multidão aglomerada atrás daquela grade. Ao longe, no canto direito, estava o olheiro que selecionava jogadores para uma escola que era uma potência em termos de esportes. Ele veio falar comigo um dia, mas eu não estava interessado. Ao seu lado estava o pai de Tyrell, que era investigador da Promotoria do condado de Essex, adorava conversar sobre basquete e às vezes levava Tyrell e eu para tomar milk-shake depois dos jogos. E, ao lado dele, o terceiro à direita, parado ali com óculos escuros e terno preto, estava o cara de cabeça raspada que eu tinha visto na casa de dona Morcega. Congelei. – Mickey? Era Tyrell, que estava com a bola e partindo para o ataque. Ele olhou para mim, intrigado. – Vamos, cara. Fui correndo atrás dele, seguindo para a entrada do garrafão, perto da cesta. O placar estava 5 a 4 para nós. O primeiro time a chegar a 10 ganhava, sendo que cada cesta valia um ponto. Ninguém pedia falta, você simplesmente aguentava o tranco e revidava. Tive vontade de sair da quadra, mas isso não é coisa que se faça nesse tipo de jogo. Tornei a olhar para além da grade: o homem ainda usava os mesmos óculos em estilo aviador. Eu não conseguia ver seus olhos, mas sabia muito bem para onde ele estava olhando. Diretamente para mim. Eu me posicionei perto da cesta e pedi a bola. Meu marcador tinha 2,03m e era forte. Brigamos pela posição, mas eu sabia que precisava terminar aquele jogo depressa, antes que o homem da casa de dona Morcega desaparecesse. Foi como se eu estivesse possuído. Peguei a bola, avancei pelo meio e fiz um arremesso em gancho. A bola fez a curva por cima do aro e entrou. O homem da casa de dona Morcega observou em silêncio. Consegui um gás extra e fiz os próximos três pontos. Três minutos depois, com o meu time já ganhando por 9 a 4, recebi um passe de Tyrell embaixo da cesta, fiz uma finta, girei o corpo para a esquerda e arremessei por cima da mão esticada de um cara que tinha quase 2,15m de altura. A plateia fez “uuu” quando a bola acertou a tabela e passou pelo aro. Fim de jogo. Tyrell esticou o punho fechado na minha direção e eu o cumprimentei com um soquinho enquanto passava correndo. – Belo arremesso – falou ele. – Belo passe – devolvi, saindo da quadra. – Ei – disse Tyrell. – Aonde você vai? – Vou ficar no banco esta partida – respondi. – Tá brincando? É o último jogo. É nossa chance de ganhar de lavada. Ele sabia que algo devia estar errado. Eu nunca ficava no banco. O homem da casa de dona Morcega continuava no meio da multidão atrás da grade. Quando viu que eu estava me aproximando, começou a se afastar para ir embora. Eu não queria gritar para chamá-lo, pelo menos não por enquanto, então apertei o passo. Tyrell veio correndo atrás de mim. – Qual o problema? – Nada. Eu já volto. Por causa da grade, eu tinha que dar a volta para chegar até o homem. Não queria sair correndo, porque seria muito esquisito, então comecei a andar mais depressa, como se estivesse fazendo jogging. Assim que contornei a grade, os moradores de rua me cercaram, erguendo as mãos para que eu batesse nelas, me incentivando e, é claro, dando conselhos: – Você precisa trabalhar a sua esquerda, cara... – Se você der um passo atrás para se livrar da marcação e depois for para a linha de fundo... – Você precisa jogar a bunda mais pra trás quando for para pegar o rebote. Tipo assim... Era difícil passar depressa por eles sem parecer grosseiro, mas o homem da casa de dona Morcega já estava quase na esquina, andando sem pressa, mas nem por isso devagar. Eu não queria perdê-lo. – Espere! – gritei. Ele continuou andando. Tornei a chamá-lo. Ele parou, virou para trás e, por um instante, tive a impressão de ver a sombra de um sorriso em seu rosto. Ah, que se dane. Abandonei meus fãs beberrões e saí correndo na direção dele. Por causa do meu movimento brusco, as pessoas viraram a cabeça em minha direção. Com o canto do olho, vi que o pai de Tyrell notou o que estava havendo e começou a me seguir. O homem da casa de dona Morcega já estava do outro lado da rua, mas eu me aproximava bem rápido. Devia estar a uns 30 ou 35 metros dele quando o carro preto com vidros fumê parou do seu lado. – Pare! Mas eu não tinha chances. O homem se deteve e meneou de leve a cabeça, como se dissesse: Boa tentativa. Então sentou no banco do carona e, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o carro sumiu de vista depressa. Não me dei o trabalho de anotar a placa. Isso eu já tinha. O pai de Tyrell, Sr. Waters, me alcançou. Olhou para mim bastante preocupado: – Você está bem, Mickey? – Estou ótimo – respondi. Ele não engoliu. – Quer me contar o que está acontecendo, filho? A essa altura, Tyrell também já estava lá, parado do lado do pai. Os dois me encaravam juntos, lado a lado, ombro a ombro, e eu me odiei por sentir tanta inveja. Estava grato pela preocupação daquele homem comigo, mas desejava que meu próprio pai estivesse ali, cuidando de mim. – Achei que tivesse reconhecido aquele homem, só isso – falei. O Sr. Waters continuava não engolindo minha desculpa. – Ainda temos mais uma partida – disse Tyrell. Pensei na minha mãe voltando para casa depois da terapia e preparando a comida. Espaguete com almôndegas... Eu quase conseguia sentir o cheiro do pão de alho. – Está ficando tarde – falei. – Tenho que pegar o ônibus de volta. – Posso levar você de carro – ofereceu o pai de Tyrell. – Obrigado, Sr. Waters, mas é muito fora do seu caminho. – Não tem o menor problema. Tenho um trabalho a fazer em Kasselton de qualquer maneira. Vou gostar da companhia. Nós perdemos aquela última partida, em parte por eu estar tão distraído. Quando ela acabou, os jogadores se cumprimentaram e o Sr. Waters esperou por nós. Fui no banco de trás, e Tyrell, no do carona. O Sr. Waters parou para deixar o filho na casa que os dois dividem com a irmã dele e os dois sobrinhos na Pomona Avenue, uma rua ladeada de árvores no bairro de Weequahic, em Newark. – Vai aparecer por aqui amanhã? – perguntou Tyrell. Eu tinha bloqueado isso da minha mente, mas então me lembrei de que minha mãe, Myron e eu pegaríamos um avião no dia seguinte para visitar o túmulo de meu pai em Los Angeles. Era uma viagem que eu não queria fazer, mas precisava fazê-la. – Não, amanhã não – respondi. – Pena – disse Tyrell. – Foi divertido hoje na quadra. – É. Obrigado por me escolher. – Só monto times para vencer – falou ele, com um sorriso. Antes de sair do carro, ele se inclinou e deu um beijo de despedida na bochecha do pai. Senti outra pontada no peito. O Sr. Waters falou para o filho não esquecer o dever de casa. – Tá, pai – respondeu Tyrell, no mesmo tom birrento que eu costumava usar na época em que as coisas eram melhores. Passei para o banco do carona. – Então – disse o Sr. Waters quando pegamos a Interestadual 80 –, o que foi aquilo com o careca do carro preto? Eu nem sabia por onde começar. Não queria mentir, mas não tinha a menor ideia de como explicar a situação. Não poderia contar a ele que tinha invadido uma casa. – Talvez ele esteja me seguindo – falei enfim. – Quem é ele? – Não sei. – Não faz ideia? – Não – respondi. O Sr. Waters remoeu essa informação. – Você sabe que sou investigador do condado, não sabe, Mickey? – Sim, senhor. Isso é tipo um policial? – Exatamente – falou ele. – E fiquei do lado daquele cara durante todo o tempo em que você jogou. Nunca o vi por lá antes. Sabe, ele mal se mexia. Ficou simplesmente parado lá, o tempo todo, com aquele terno. Não torceu, não gritou, não disse uma palavra. E não desgrudou os olhos de você. Eu me perguntei como o Sr. Waters poderia saber isso, já que o cara estava de óculos escuros, mas entendi o que ele queria dizer. Ficamos alguns instantes em silêncio, até que ele disse algo que me pegou de surpresa: – Então, enquanto vocês jogavam a última partida, eu tomei a liberdade de investigar a placa do carro do sujeito. – O carro preto? – É. Fiquei totalmente imóvel no banco. – Não apareceu no sistema – disse ele. – O que isso significa? – Que é confidencial. – O senhor quer dizer diplomático ou coisa parecida? – Ou coisa parecida – falou o Sr. Waters. Tentei juntar as peças na minha cabeça, mas não consegui encontrar nenhum sentido. – Então o que isso quer dizer? Chegamos à casa de Myron. Depois de parar o carro devagar, o Sr. Waters se virou para mim. – De verdade? Não sei, Mickey, mas não estou gostando nada disso. Tenha cuidado, OK? – OK. O Sr. Waters enfiou a mão na sua carteira. – Se tornar a ver aquele careca, não vá atrás dele. Ligue para mim, entendido? Ele me entregou seu cartão de visita. Dizia JOSHUA WATERS, INVESTIGADOR DO CONDADO DE ESSEX. Havia um número de telefone na parte de baixo. Eu lhe agradeci e saí do carro. Ele foi embora, despedindo-se com um aceno. Enquanto eu arrastava os pés pelo caminho de entrada, tive a impressão de sentir cheiro de alho, mas deve ter sido minha imaginação. Usei minha chave para entrar. – Mãe? Nenhuma resposta. – Cheguei – disse, mais alto dessa vez. – Mãe? Ainda nenhuma resposta. Entrei na cozinha. Não havia nada no forno. Nenhum cheiro de alho. Conferi as horas. Seis da tarde. Mamãe provavelmente ainda não tinha chegado da terapia, era isso. Abri a geladeira para pegar alguma coisa para beber, mas então percebi na mesma hora que não havia nenhuma comida ali que já não estivesse antes. Mas mamãe não tinha dito que havia feito compras? Minha respiração ficou meio estranha. Liguei para o celular dela. Ninguém atendeu. Desliguei depois do quinto toque. OK, Mickey, mantenha a calma. Mas eu não conseguia. Minhas mãos começaram a tremer. Tive uma sensação de alívio quando meu telefone vibrou. Só poderia ser minha mãe. Olhei para o nome na tela. Era Colherada. Comecei a pirar. Apertei o botão para rejeitar a chamada, liguei para o Instituto Coddington de Reabilitação e pedi para falar com Christine Shippee. Quando ela atendeu, perguntei: – Minha mãe ainda está aí? – Do que você está falando? Por que sua mãe estaria aqui? Meu coração afundou no peito. – Ela não tinha terapia hoje? – Não – respondeu ela. – Ah, não. O que aconteceu, Mickey? Onde ela está? Para você ter uma ideia de quanto eu sou imbecil: por incrível que pareça, fui para a frente de casa esperar que minha mãe chegasse. Um turbilhão de emoções girava dentro do meu cérebro. Eu só queria que elas parassem. Só queria ficar entorpecido. Ansiava por isso, queria não sentir absolutamente nada. Então me dei conta de que era o que minha mãe desejava também. E veja o que ela havia conseguido com isso... Tornei a ligar para o celular dela. Dessa vez, esperei até ouvir a mensagem do correio de voz: “Oi, aqui é a Kitty. Deixe seu recado após o bipe.” Engoli em seco e tentei falar sem parecer que estivesse implorando, mas não consegui. – Mãe, por favor, ligue para mim, OK? Por favor. Não chorei, mas estava a ponto de chorar. Depois de desligar, me perguntei o que poderia fazer. Fiquei algum tempo simplesmente olhando para o telefone, torcendo para que ele tocasse. Mas já estava cansado de torcer e esperar que as coisas acontecessem. Precisava começar a cair na real. Pensei em como o rosto de mamãe estava radiante pela manhã. Pensei em como nós dois havíamos tido esperanças depois de ela passar as últimas seis semanas sem aquele veneno em seu organismo. Eu não queria fazer isso, mas não tinha escolha. O telefone estava na minha mão. Digitei o número pela primeira vez. Tio Myron atendeu na mesma hora. – Mickey? – Não consigo encontrar mamãe. – OK – falou ele, num tom que foi quase como se ele estivesse esperando minha ligação. – Deixe comigo. – Como assim “deixe comigo”? Você sabe onde ela está? – Posso descobrir em alguns minutos. Eu teria perguntado como, mas não havia tempo a perder. – Quero ir com você – falei. – Não acho que seja uma boa ideia. Deixe comi... – Myron – falei, interrompendo-o. – Por favor, não me venha com esse discurso paternalista. Não agora. Não quando o assunto é a minha mãe. Após um breve silêncio, ele disse: – Pego você no caminho.
Capítulo 9
O MOTEL ANÉIS DE SATURNO ficava debaixo de um viaduto na Rota 22. O letreiro de neon anunciava preços por hora, internet sem fio grátis e tevê em cores, como se a concorrência só trabalhasse com televisões em preto e branco. Como o nome sugeria, era uma construção circular, mas isso não era o que mais chamava a atenção. A primeira coisa que você percebia ao chegar era a imundície. O Anéis de Saturno era o tipo de espelunca que fazia a pessoa ter vontade de mergulhar de corpo inteiro em um litro de desinfetante. O Ford Taurus de Myron (que mamãe tinha dirigido apenas 10 horas atrás para me deixar na escola, cantando junto com o rádio e onde depois havia escrito um bilhete justificando meu atraso) estava no estacionamento. Myron tinha instalado um GPS no veículo. Não sei por quê. Talvez suspeitasse de que algo como aquilo pudesse acontecer. Por um instante, fiquei apenas olhando o Taurus em silêncio. Mulheres usando roupas provocativas e saltos altos demais zanzavam por ali. Tinham os olhos fundos e as bochechas chupadas, como se a morte já tivesse levado parte delas. Eu conseguia ouvir minha própria respiração saindo em arquejos curtos. – Alguma chance de eu convencer você a ficar no carro? – perguntou Myron. Nem respondi. Nós dois descemos do carro e entramos em um saguão tão pequeno que mal cabia a única máquina de venda automática que havia ali. O homem atrás do balcão usava uma camiseta que cobria mais ou menos a metade de sua barriga imensa. Imaginei como Myron faria para descobrir em que quarto minha mãe estava, mas não foi muito difícil. Ele deslizou uma nota de 100 dólares na direção do homem, que a fez desaparecer, arrotou e disse: – Quarto 212, anel C. Seguimos até o quarto em silêncio. Gostaria de dizer que tinha esperanças, mas, se ainda havia alguma, eu a afastei. Por quê? Era o que eu me perguntava. Menos de um ano atrás, éramos uma família tão feliz que nem nos dávamos conta da sorte que tínhamos. Afastei esse pensamento também. Estava cansado de sentir pena de mim mesmo. Quando chegamos à porta, Myron eu trocamos olhares. Ele hesitou, então eu assumi o comando. Bati à porta. Esperamos que alguém viesse abri-la. Ninguém veio. Tornei a bater. Colei o ouvido à madeira. Ainda sem resposta. Myron encontrou a arrumadeira daquele andar, que abriu a porta. Desta vez, a gentileza lhe custou 20 dólares. A luz estava apagada quando entramos. Myron abriu as cortinas. Minha mãe estava esparramada na cama, sozinha. Eu quis muito, muito mesmo, poder fechar os olhos com força e sair correndo. Não tem nada de bonito em um viciado. Eu me aproximei da cama e sacudi seu ombro de leve. – Mamãe? – Eu sinto muito, Mickey – murmurou, começando a chorar. – Eu sinto muito. – Vai ficar tudo bem. – Por favor, não me odeie. – Nunca – falei. – Eu jamais poderia odiar você. Nós a levamos de volta para a clínica. Christine Shippee nos encontrou na entrada, pegou mamãe pela mão e a conduziu pela porta de segurança. Suas fungadas tristes desapareceram quando a porta se fechou com um baque atrás dela. Olhei para Myron. Talvez houvesse piedade em seus olhos, mas o que eu mais vi foi repulsa. Alguns minutos depois, Christine Shippee voltou. Seu jeito de andar transmitia a firmeza e a seriedade de sempre. Isso costumava me dar confiança. Mas agora não dava mais. – Kitty não poderá receber visitas por pelo menos três semanas – anunciou. Não gostei disso. – Nem eu? – Nenhuma visita, Mickey – reforçou ela, voltando seu olhar para mim. – Nem você. – Três semanas? – No mínimo. – Isso é loucura. – Nós sabemos o que estamos fazendo – disse Christine. – Sei. Estou vendo – bufei com sarcasmo. – Mickey... – falou Myron. Mas eu ainda não tinha acabado: – Porque vocês fizeram um trabalho muito bom da última vez... – Não é incomum que um viciado tenha recaídas – disse ela. – Eu o alertei quanto a isso. Pensei sobre como minha mãe sorrira para mim, pensei nela dizendo que estava em casa preparando espaguete com almôndegas, em como tinha inclusive acrescentado pão de alho ao seu jantar imaginário. Mentira. Tudo mentira. Saí da clínica como um furacão. O céu era uma tela preta, sem uma só estrela. Procurei pela lua, mas também não consegui encontrá-la. Queria gritar ou bater em algo. Myron saiu alguns minutos depois e destrancou a porta do carro. – Sinto muito. De verdade – falou ele. Fiquei calado. Ele odiava minha mãe e sabia que isso iria acontecer. Devia estar adorando ter razão. Seguimos em silêncio por alguns quilômetros até que Myron decidiu quebrá-lo. – Podemos cancelar a viagem a Los Angeles se você quiser. Avaliei a questão. Não havia nada que eu pudesse fazer ali. Christine tinha deixado claro que não me permitiria ver minha mãe no dia seguinte. Além do mais, meus avós já estavam a caminho de Los Angeles. Queriam ver o túmulo do filho. Eu entendia isso. Queria revê-lo também. – Não. Myron assentiu. Não conversamos mais. Quando chegamos em casa, desci correndo para o porão e fechei a porta ao entrar. Fui fazer meu dever de casa. A Sra. Friedman tinha passado um trabalho sobre a Revolução Francesa. Comecei a prepará-lo, tentando me concentrar ao máximo e me livrar de qualquer outro pensamento. Eu fazia musculação quatro dias por semana, mas não tinha feito naquele dia; então fiz três séries de 60 flexões. A sensação foi ótima. Tomei uma ducha. À meia-noite fui para a cama e tentei ler um livro, mas as palavras passavam sem sentido diante dos meus olhos. Apaguei a luz e fiquei sentado no escuro. Não havia a menor chance de eu conseguir dormir. Myron ainda não tinha instalado uma tevê no porão. Pensei em subir até a sala de estar para assistir ao SportsCenter ou coisa parecida, mas não queria topar com meu tio. Peguei o celular e mandei o enésimo torpedo para Ashley. Fiquei esperando alguma resposta. Não veio nenhuma, é claro. Cheguei a pensar em contar a respeito dela para o Sr. Waters, mas o que exatamente eu poderia dizer? Refleti sobre isso por mais alguns minutos. Liguei meu laptop e comecei a pesquisar sobre os “pais” de Ashley, mas não encontrei muita coisa. O Sr. Kent era de fato Dr. Kent, cardiologista do hospital Valley. A Sra. Kent, conforme Ashley tinha dito, era advogada e trabalhava para uma firma grande em Roseland. E daí? À uma da manhã, meu telefone vibrou. Eu o apanhei de um salto, torcendo para que fosse Ashley, por mais impossível que parecesse. Mas não, era Ema: tá acordado? Respondi que sim. Ema: vamos tentar invadir a casa da d. morcega de novo amanhã? Eu: não dá. vou p los angeles. Ema: pq? Então surpreendi a mim mesmo e fiz algo totalmente atípico: digitei a verdade. visitar o túmulo do meu pai. Fiquei quase cinco minutos sem resposta. Comecei a me repreender. Quem solta uma coisa dessas assim, sem pensar? OK, talvez tivesse sido um momento de fraqueza. Tinha sido um dia horroroso, confuso, cheio de emoções. Tentei pensar no que poderia digitar, em como desfazer o estrago, quando outra mensagem chegou. Ema: olhe p seu quintal dos fundos. Eu saí da cama e fui até a janela da área de serviço, que dava para os fundos da casa. Ao longe, vi alguém piscando a luz de um celular e supus que fosse Ema. Eu: cinco minutos. Demorei menos. Vesti um short e uma blusa e fui para o quintal. Como era de se esperar, Ema estava de preto, totalmente gótica e no melhor estilo vampira. Seus brincos tinham caveiras e ossos cruzados. O pino de prata que ela costumava trazer na sobrancelha tinha sido substituído por uma argola também de prata. Ela enfiou as mãos nos bolsos. Seus olhos se desviaram em direção à cesta de basquete. – Deve ajudar – falou ela. – O quê? – O basquete – disse Ema. – Ter uma paixão dessas. – Ajuda – confirmei. – Você tem uma? – Uma paixão? – É. Seu olhar se afastou para a direita. – Não exatamente. – Mas...? Ela balançou a cabeça. – Isso tudo é muito esquisito. – O quê? – Você ser legal comigo. Eu suspirei. – Não me venha com essa história de novo. – Eu sou a gorda excluída. Você é o novo gatinho da escola, que Rachel Caldwell está paquerando. – Rachel Caldwell? Você acha mesmo? Ema revirou os olhos. – Homens. Quase sorri, mas me lembrei. É engraçado como você se permite esquecer por alguns segundos, como, mesmo na pior das situações, você pode ter momentos em que se engana e pensa que tudo talvez fique bem. – Olha só, o verdadeiro excluído aqui sou eu – falei. – Eu sou o garoto novo com o pai morto e a mãe viciada. – Sua mãe é viciada? De novo, falando sem pensar. Fechei os olhos. Quando tornei a abri-los, Ema tinha se aproximado um pouco. Ela me encarou com o olhar mais meigo do mundo. – Espero que não esteja me olhando com pena – falei. Ela ignorou minha grosseria. – Me conte sobre a sua mãe. E, mais uma vez, não me pergunte por que, mas eu contei. Acho que foi porque nunca havia tido uma amiga assim. Essa seria a explicação mais simples. Ela havia percebido que eu estava mal e então, à uma da manhã, se dera o trabalho de ir me ver. Mas acho que havia algo mais profundo por trás disso. Ema tinha um jeito especial. Ela simplesmente entendia. Era como se já soubesse as respostas e só quisesse melhorar a situação. Quando acabei, Ema balançou a cabeça e disse: – Pão de alho. Uau. Era disso que eu estava falando quando disse que ela entendia. – Você deve estar com muita raiva – falou Ema. Fiz que não com a cabeça. – Não é culpa dela – falei. – Conversa fiada. Já ouviu falar de pessoas que incentivam um comportamento destrutivo em alguém que amam porque criam desculpas para defendê-la? Já. Sabia que isso podia acontecer. De certa forma, ela estava certa. Eu estava inventando desculpas. Mas como explicar que... – Se não tivesse ficado grávida de mim – falei devagar –, minha mãe teria se tornado uma das melhores tenistas do mundo. Teria sido rica e famosa em vez de uma viúva drogada que não tem nada. – Nada, não – falou Ema. – Ela tem você. Dispensei o comentário com um gesto, com medo de abrir a boca, porque sabia que minha voz iria falhar. Ema não forçou a barra. Mais uma vez, ela sabia que seria a coisa errada a fazer. Ficamos sentados em silêncio lá fora por alguns minutos. Já eram quase duas da manhã. – Você não acha que seus pais estão se perguntando onde você está? O rosto dela se fechou como um portão de aço. – Não. E então fui eu quem percebeu que era melhor não forçar a barra. Nos despedimos alguns minutos depois. Perguntei outra vez se podia acompanhá-la até sua casa. Ela enrugou a testa, unindo as sobrancelhas. – Estou falando sério – disse. – Está tarde. Não gosto da ideia de você andando sozinha. Onde você mora? – Vamos deixar pra outro dia – falou ela. – Por quê? – Só... vamos deixar pra outro dia, OK? Não sabia bem o que mais dizer, então me contentei com: – OK. – Porém, acrescentei em seguida: – Mas me prometa uma coisa. Ema fez cara de desconfiada. – O quê? – Que vai me mandar um torpedo assim que chegar em casa. Ela me ofereceu um pequeno sorriso e então balançou a cabeça. – Você só pode estar de brincadeira. – Ou você promete ou eu a acompanho. – Está bem – disse ela com um suspiro. – Eu prometo, eu prometo. O quintal dos fundos de Myron ficava colado ao dos vizinhos. Ema seguiu para lá. Fiquei observando-a afastar-se com as costas levemente curvadas e me perguntei como aquela pessoa já era tão importante em minha vida, quando eu havia prometido a mim mesmo que não estabeleceria nenhuma ligação séria com ninguém. Assim que ela sumiu de vista, comecei a voltar para casa. A bola de basquete estava largada no chão ali fora. Eu a apanhei e me pus a girá-la no dedo. Olhei para a cesta... Não, estava muito tarde. Acabaria acordando os vizinhos. Girei a bola outra vez e caminhei em direção à porta dos fundos, quando algo me fez parar. Colei as costas à parede da casa para me manter fora de vista. Meu coração começou a esmurrar o peito. Coloquei a bola no chão e deslizei lentamente para a direita, perto da garagem. Continuei agachado e olhei, pela quina, para a rua em frente à casa de Myron. E ali, na esquina, a uns 200 metros da casa, um carro preto com janelas de vidro fumê estava estacionado. Parecia o mesmo que eu tinha visto quando estava jogando basquete, o mesmo que havia estado na casa de dona Morcega. Imaginei o que deveria fazer em seguida. Lembrei do Sr. Waters me dizendo para ligar se tornasse a ver o careca, mas, fala sério... Eram duas da manhã. O celular dele deveria estar desligado. E, se não estivesse, eu queria mesmo acordar sua família inteira e... o quê?... esperar que ele pegasse o carro e viesse até a casa de Myron? O carro preto provavelmente já teria ido embora quando ele chegasse. Não, eu teria que resolver aquilo sozinho. Eu não estava com tanto medo assim... ou talvez a curiosidade fosse simplesmente maior que o medo. Difícil dizer. Quando eu tinha 10 anos, minha família passou um ano no Brasil. Lá eu conheci uma luta chamada jiu-jítsu. Desde então vinha praticando artes marciais nos mais diversos cantos do mundo, principalmente para me manter em forma para o basquete. Até o momento, eu tinha usado essas habilidades só uma vez. E tinham funcionado... talvez até bem demais. Enfim, isso me dava confiança, mesmo que ela fosse infundada. Saí correndo pelos fundos da casa vizinha, a dos Gorets. Meu objetivo era passar de uma casa a outra até conseguir me esgueirar por trás do carro. Faltavam três. Não tinha motivo para ficar parado ali. Espiei de trás das azaleias dos Gorets e disparei até o terreno dos Greenhall. Eles tinham uma fazenda no norte e nunca ficavam ali. No minuto seguinte, eu já estava escondido atrás de uma moita a uns 10 metros do carro preto com janelas de vidro fumê. Agora que estava tão perto, conseguia ler a placa: A30432. Saquei meu celular e conferi o número que Ema havia me mandado por torpedo. Era igual. Não tinha mais dúvidas: era o mesmo carro. Tornei a espiar de trás da moita. O motor estava desligado. Não havia sinal de movimento ou de qualquer pessoa. O carro poderia estar simplesmente estacionado ali, vazio. E agora, o que eu podia fazer? Andar até ele e começar a esmurrar a janela, exigindo respostas? Parecia ter alguma lógica. Mas também parecia idiotice. Ou então ficar sentado ali, esperando? Por quanto tempo? E se o carro fosse embora? Eu faria o quê? Ainda estava agachado atrás da moita, tentando me decidir, quando a decisão foi tomada por mim. A porta do carona se abriu e o careca saiu do carro. Ainda usava aquele terno preto e, apesar da hora, estava com os óculos escuros. Por um instante, o homem ficou totalmente imóvel, de costas para a moita. Então girou a cabeça bem devagar e disse: – Mickey. Gulp. Não fazia ideia de como ele tinha me visto, mas àquela altura não importava. Eu me levantei, ele me encarou por detrás dos óculos e, apesar do calor, juro que senti um calafrio. – Você tem perguntas – disse o careca para mim. Ele falava com um sotaque britânico tão carregado que soava quase forçado. Era como se tivesse frequentado alguma escola particular de elite e quisesse deixar isso bem claro. – Mas ainda não está preparado para as respostas. – O que quer dizer com isso? – Quero dizer – falou ele, com o mesmo sotaque – exatamente o que disse. Eu franzi as sobrancelhas. – Parece algo que viria dentro de um biscoito da sorte vagabundo. A sombra de um sorriso atravessou o rosto do careca. – Não conte a ninguém a nosso respeito. – Tipo a quem? – Tipo a qualquer um. Como o seu tio. – Myron? E o que eu poderia contar a ele? Não sei de nada. Quem é você? Ou, como você disse, nós? – Você vai saber – afirmou. – Quando chegar a hora. – E quando vai ser isso? O homem entrou de volta no carro. Nunca parecia estar com pressa, mas cada movimento seu era de uma velocidade e fluidez quase sobrenaturais. – Espere! – gritei. Eu me movi depressa, tentando alcançar a porta do carro antes que ela se fechasse. – O que você estava fazendo naquela casa? Quem é você? Mas era tarde demais. Ele bateu a porta com força. O carro deu a partida. Então, como eu havia meio que planejado antes, comecei a esmurrar as janelas. – Pare! O carro começou a se afastar. Sem pensar, pulei em cima do capô, igual fazem nos filmes. Mas vou contar uma coisa que você não vê no cinema: na verdade, não há onde se agarrar no capô de um carro. Tentei alcançar o vão perto do para-brisa, mas não consegui firmar os dedos. O carro seguiu adiante, parou de repente e eu saí voando. Não sei como, mas consegui cair de pé, cambalear e me manter na vertical. Então fiquei parado diante do carro, desafiando-o a me atropelar. Até o para-brisa era fumê, mas fiquei olhando através dele na direção do banco do carona, tentando imaginar que estava fitando o careca bem nos olhos. Por alguns instantes, nada aconteceu. Continuei parado diante do carro. – Quem é você? – perguntei novamente. – O que quer comigo? Ouvi a janela do carona baixar. Fiquei tentado a correr até ela, mas isso talvez fosse má ideia. O homem poderia estar só esperando que eu saísse do caminho para pisar fundo. – Dona Morcega disse que meu pai está vivo – gritei. E, para minha surpresa, obtive uma resposta. – Ela não deveria ter dito isso. Meu coração parou de bater. – Ele está? Fez-se um longo silêncio. – Meu pai está vivo? – exigi saber. Coloquei as mãos sobre o capô e meus dedos se enterraram no metal quase como se eu fosse levantar o carro e sacudi-lo para arrancar uma resposta dele. – Conversaremos depois – disse o homem. – Não me venha com... E então, sem o menor aviso, o carro deu ré. Eu caí de frente na rua, raspando as mãos no asfalto. Quando ergui os olhos, o veículo dava meia-volta e desaparecia na esquina.
Capítulo 10
ERAM 2H15 QUANDO VOLTEI sorrateiramente para casa. Meu celular vibrou. Era um torpedo de Ema: cheguei. feliz? Eu: extasiado. Estava seguindo na ponta dos pés para a porta do porão quando ouvi vozes no andar de cima. A princípio achei que fosse a tevê, mas não: uma das vozes era a de Myron. A outra – ora, ora – era feminina. Hum. Fui em direção às escadas. A luz estava apagada no quarto de Myron, mas não no escritório. Como meu tio me havia dito um milhão de vezes, o escritório tinha sido o quarto do meu pai e, antes que Myron se mudasse para o porão, era ali que os dois dormiam. Meu tio sempre me presenteava com histórias sobre as coisas que eles costumavam fazer juntos naquele quarto: brincar com jogos de tabuleiro tipo War, trocar figurinhas, montar suas próprias ligas de basquete de mentira. Às vezes, quando não havia ninguém em casa, eu subia até lá e tentava imaginar meu pai criança. Mas não conseguia visualizar nada. A reforma havia removido qualquer indício do que lembrasse um quarto. Agora o cômodo parecia um escritório de contabilidade. Subi as escadas e parei ao lado da porta. Myron estava no computador, em um chat com vídeo. Às duas da manhã? Que história era aquela? – Não posso ir agora – ouvi-o falar. – Entendo. Eu também não – disse uma voz de mulher. Com quem Myron estava conversando? Espere um instante... Ele estava procurando alguém na internet para “se conectar”? E nenhum dos dois queria viajar até a cidade do outro? Que nojento. – Eu sei – disse Myron. – Carrie ainda não está pronta – falou a mulher. Peraí. Quem era Carrie? Outra mulher? Mais nojento ainda! – Então, o que a gente faz? – perguntou Myron. – Quero que você seja feliz, Myron – respondeu a mulher. – Você me faz feliz – disse ele. – Eu sei. Você também me faz feliz. Mas talvez precisemos ser realistas. Agora eles não pareciam dois estranhos tentando tirar o atraso. Pareciam duas pessoas com o coração partido. Espiei para dentro do quarto novamente. Myron estava com a cabeça abaixada. Eu conseguia ver uma mulher de cabelos muito pretos na tela. – Talvez você tenha razão – falou Myron. – Talvez precisemos ser realistas. Ele ergueu os olhos para fitar os da mulher na tela.
– Mas não esta noite, OK? – pediu ele. – OK – concordou a mulher. E então falou, com a voz mais suave que eu tinha ouvido na vida: – Eu te amo tanto... – Eu também... – disse Myron Eu não sabia o que estava fazendo ali. Não tinha a menor ideia de quem poderia ser aquela mulher ou do que eles estavam falando. Nunca havia perguntado a Myron se ele tinha namorada ou coisa parecida, basicamente porque não estava muito interessado. Bem, não importava: eu subira até ali porque tinha ouvido vozes. Não gostava de ficar bisbilhotando daquele jeito. Dei dois passos para trás e desci, pisando leve e sem fazer barulho. De volta a meu quarto no porão, me arrumei para dormir e entrei debaixo das cobertas. Fiquei pensando em como Myron e a mulher pareciam tristes. Perguntei-me quem seria Carrie e por que Myron não podia ficar com a mulher naquele momento. Mas não pensei no assunto por muito tempo. Pela manhã, nós dois viajaríamos para Los Angeles para visitar o túmulo do meu pai. Imaginei que a expectativa fosse me deixar acordado pelo resto da noite. Em vez disso, peguei no sono em questão de segundos. Não me leve a mal. Eu ainda nem os conheço direito, mas, pelo que vi até agora, meus avós são os mais legais de todos os tempos. Ellen e Al Bolitar (minha avó gosta de brincar que eles são “El- Al, como a companhia aérea israelense”) nos receberam no aeroporto internacional de Los Angeles. Vovó veio correndo na nossa direção com os braços abertos e nos abraçou como se fôssemos inocentes recém-libertos da prisão – ou seja, um abraço de avó. Ela nos segurou com todas as suas forças e nos olhou de cima a baixo, inspecionando para garantir que estava tudo no devido lugar. – Vocês dois estão tão bonitos – falou vovó para mim. Eu não me sentia bonito. Estava usando um dos ternos de Myron – que, por sinal, não me caía nada bem. Vovô chegou em seguida, usando uma bengala e andando muito devagar. Myron e eu lhe demos um beijo na bochecha, porque era o que todos nós queríamos. Vovô ainda estava pálido por conta da cirurgia no coração que sofrera pouco tempo atrás. Tentei afastar minha sensação de culpa por conta do estado de saúde dele, mas era difícil fugir do fato de que me sentia ao menos em parte responsável. Vovô não queria nem ouvir falar disso. Na verdade, gostava de dizer que salvei a vida dele naquele dia. Eu tinha minhas dúvidas. Como se percebesse isso, ele deu um aperto a mais no meu ombro. Não sei dizer por que, mas nada poderia ter me consolado mais do que aquele gesto. Myron tinha alugado um carro. Seguimos até o cemitério em silêncio. Vovó e eu fomos no banco de trás. Ela segurava minha mão. Não perguntou pela minha mãe, embora quisesse saber. Eu a amei por isso. Quando chegamos ao estacionamento do cemitério, senti meu corpo inteiro estremecer. Myron desligou o motor. Saímos todos do carro em silêncio. O sol estava forte. – É no alto da colina – falou Myron. – Quer que eu busque uma cadeira de rodas para o senhor, papai? Vovô dispensou a ideia com um gesto. – Quero andar até o túmulo do meu filho. Seguimos calados. Apoiando-se com força em sua bengala, vovô foi na frente. Vovó e eu o seguimos. Myron ficou mais para trás. Quando nos aproximamos do túmulo de papai, Myron andou até onde eu estava e perguntou: – Tudo bem? – Tudo – respondi, apertando o passo. A cova do meu pai ainda estava sem lápide. Durante um bom tempo, ninguém falou nada. Nós quatro ficamos apenas parados ali. Carros passavam a toda a velocidade na rodovia ao lado, sem darem a mínima para o fato de que, a poucos metros de distância, uma família devastada estava sofrendo. De repente, vovô começou a recitar de cabeça o Cadish, a prece hebraica pelos mortos. Não éramos pessoas religiosas – longe disso –, de modo que fiquei um pouco surpreso. Algumas coisas, imagino, são feitas por tradição, por hábito, por necessidade. – Itgadal veyitcadash shemê rabá... Myron começou a chorar. Ele era assim, emotivo demais, o tipo de cara que chorava vendo comerciais de tevê. Desviei o olhar e tentei manter meu rosto firme. Então fui envolvido por um sentimento estranho. Não acreditava em dona Morcega, mas, parado ali, diante da sepultura do pai que tanto amava, com tanta saudade dele que tinha vontade de arrancar meu coração do peito, eu me sentia estranhamente imperturbável. Por quê? Por que eu não estava totalmente arrasado diante do último lugar de descanso do meu pai? Então uma vozinha sussurrou dentro da minha cabeça: Porque ele não está aqui.. Com as mãos unidas e a cabeça abaixada, vovô terminou a longa oração: – Alênu, veal col Yisrael; ve ‘imru amen. Myron e vovó juntaram suas vozes àquele último “amém”. Continuei calado. Ficamos imóveis durante vários minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu me lembrei da primeira vez em que tinha estado naquele cemitério, no funeral de papai, só minha mãe e eu. Ela estava totalmente chapada e me fez prometer que não contaríamos a ninguém sobre a morte de papai, porque tio Myron iria dizer que ela não tinha condições de me criar e pedir minha guarda. Olhei para a tabuleta que tinha sido colocada ali temporariamente até que a lápide ficasse pronta. Ela também havia estado ali no dia do funeral. Nela se lia BRAD BOLITAR, escrito em tinta preta, numa ficha de arquivo protegida por um plástico. Depois de mais um minuto de silêncio, vovô balançou a cabeça e disse: – Isso não deveria acontecer nunca. Ele se deteve e ergueu os olhos para o céu. – Um pai nunca deveria ter de recitar o Cadish para o filho. Com essas palavras, ele começou a descer a colina. Myron e vovó o seguiram. Olharam para trás na minha direção. Eu me aproximei um passo da terra fofa. Meu pai, o homem que eu havia amado mais do que qualquer outro no mundo, jazia sete palmos abaixo de mim. Não era o que eu sentia, mas isso não significava que não fosse verdade. Olhei para a tabuleta, sem me mexer. – Mickey? – ouvi Myron dizer atrás de mim. Não respondi nem esbocei reação alguma, porque, bem, eu não podia. Ainda estava olhando para a tabuleta, sentindo meu mundo, que já era frágil, vacilar sob meus pés novamente. Eu via o nome de papai. Via a tinta preta na ficha de arquivo branca. Mas, agora, via algo mais também: um desenho. Ele era pequeno e estava no canto da ficha, mas era inconfundível. Um emblema de uma borboleta colorida que tinha nas asas algo que poderia ser os olhos de um animal. Eu o tinha visto antes... na casa de dona Morcega. Era a mesma imagem estampada nas camisas das pessoas naquela foto antiga. Nós nos despedimos no aeroporto, trocando abraços e beijos. Vovó falou para Myron e para mim: – Vocês virão para o Dia de Ação de Graças. Ela não pediu, comunicou. Adorei isso. Eu me arrependia pelo fato de meus avós não terem participado mais da minha vida até então, mas imagino que mamãe e papai tivessem seus motivos. Meus avós pegaram um voo de volta para a Flórida e Myron e eu embarcamos para Newark meia hora depois. O avião estava lotado. Myron se prontificou a ficar com a poltrona do meio. Fiquei com a janela. Nós nos enfiamos com dificuldade em nossos lugares. Os assentos da classe econômica não são feitos para pessoas do nosso tamanho. Havia duas senhoras sentadas na nossa frente e os pés delas mal tocavam o chão, mas isso não as impediu de inclinar seus bancos para trás com toda a força contra nossos joelhos. Passei quatro horas no avião encarando o couro cabeludo de uma idosa. Em determinado momento durante o voo quase falei sobre o que tinha visto às duas da manhã. Quase perguntei a Myron quem era a mulher de cabelos escuros e quem era Carrie. Mas acabei não dizendo nada, porque isso com certeza levaria a uma conversa mais longa e eu não estava a fim. Depois de aterrissarmos, pegamos o carro de Myron no estacionamento do aeroporto e seguimos pela Golden State Parkway. Nenhum de nós dois falou nada durante os primeiros 20 minutos do trajeto. Quando passamos pela nossa saída, eu finalmente me pronunciei: – Para onde estamos indo? – Você vai ver – falou Myron. Dez minutos depois entramos no estacionamento de um centro comercial. Myron parou o carro e sorriu para mim. Primeiro olhei pelo para-brisa, depois de volta para meu tio. – Você está me levando para tomar sorvete? – Vamos – disse Myron. – Está de brincadeira, não é? Quando entramos na sorveteria SnowCap, uma mulher de cadeira de rodas nos cumprimentou. Ela devia ter uns 20 e poucos anos e seu sorriso era largo, maravilhoso. – Oi, o senhor de novo! O que vai querer? – Prepare, por favor, um SnowCap Melter para o meu sobrinho. Preciso falar com seu pai um minuto. – Claro. Ele está na sala dos fundos. Myron nos deixou. A mulher de cadeira de rodas estendeu a mão. – Eu sou Kimberly. Eu a apertei. – Eu sou Mickey. – Sente-se ali – falou Kimberly, gesticulando para uma cadeira. – Vou preparar um SnowCap Melter para você. O Melter era mais ou menos do tamanho de um Fusca. Kimberly o preparou com aquele sorriso grande e irresistível. Fiquei imaginando o que a teria deixado numa cadeira de rodas, mas é claro que nunca teria coragem de perguntar. Olhei para o prato imenso de sorvete, cobertura e chantilly. – Isso é para uma pessoa só? Ela riu. – As pessoas se esforçam para isso. Caí dentro. Não quero exagerar, mas, em toda a história da humanidade, jamais deve ter existido algo tão gostoso quanto o SnowCap Melter. Eu o estava devorando tão depressa que fiquei com medo de acabar tendo aquelas dores de cabeça de sorvete. Kimberly se divertia só de me olhar. – O que Myron quer com seu pai? – perguntei a ela. – Acho que o seu tio descobriu uma verdade universal. – Qual? O sorriso de Kimberly desapareceu, e juro que senti um vento gelado bater em minha nuca. – Que as pessoas fazem tudo o que for preciso para proteger os mais jovens. – Não estou entendendo. – Mas vai entender. – O que isso significa? Kimberly pestanejou e desviou o olhar. – Minha irmã mais velha foi assassinada há 16 anos. Ela estava com 16. Eu não fazia ideia do que dizer. Por fim, perguntei: – O que Myron tem a ver com isso? – Não só Myron – disse ela. – Sua mãe teve algo a ver com isso também. Assim como seu pai. Eu larguei a colher. – Não estou entendendo nada. Está dizendo que meus pais machucaram... – Não! – exclamou ela, interrompendo-me. – Os seus pais nunca machucariam ninguém. Jamais. – Como você conhece meus pais? – Não conheço. Mas entenda uma coisa, Mickey: nada disso é coincidência. Minha cabeça estava girando. – Não conte a Myron sobre essa conversa, OK? – pediu ela. Eu assenti. – Coma o sorvete – sussurrou. Tomei outra colherada. A porta do escritório nos fundos se abriu e Myron apareceu. Kimberly se inclinou para perto de mim e sussurrou no meu ouvido: – Ria como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Quase lhe perguntei por que, mas, por algum motivo, Kimberly me inspirava confiança e eu gostava dela, de modo que obedeci. Gargalhei de um jeito que me pareceu um pouco forçado, mas então ela riu junto comigo, um riso contagiante. Foi mais fácil me deixar levar. Kimberly se inclinou para a frente de novo: – Mais uma vez. Não queremos que seu tio pergunte sobre o que estávamos conversando. Então eu ri novamente e, mais uma vez, ela riu comigo. Myron me encarou com um olhar de cachorro pidão e um sorriso discreto e triste. Kimberly se afastou, girando as rodas da cadeira. Confuso e perdido, deixei minhas risadas sumirem. Não soube o que fazer quando meu telefone começou a vibrar. Conferi o número na tela e vi que era Colherada. Colei o aparelho à orelha. – Qual é? – perguntei. – Mickey? Dava para perceber a empolgação na voz dele. Na verdade, Colherada estava tão entusiasmado que nem fez seu habitual comentário sem sentido. – Descobri uma coisa – falou ele. – O quê? – O armário de Ashley. – O que tem ele? – Eu sei quem o arrombou.
Capítulo 11
EMA, COLHERADA E EU NOS encontramos no estacionamento na manhã seguinte, antes da aula. Ema tinha trazido seu laptop. Colherada, de óculos escuros, carregava uma maleta – uma maleta de verdade, do tipo que os executivos usam no cinema. Não me lembro de ter visto uma dessas até aquele momento. Nós nos sentamos no meio-fio. Colherada mexeu no segredo e abriu a maleta. Olhei dentro dela e a única coisa que havia ali era um pen-drive. Ele arqueou uma sobrancelha enquanto o pegava e fechava a tranca de volta. – O que vocês verão agora – falou Colherada da forma mais dramática possível e arrancando os óculos – jamais poderá sair daqui. Então entregou o pendrive a Ema. Ela suspirou. – O que é isso? – O vídeo da câmera de segurança – disse Colherada. – A escola tem um sistema de vigilância bem eficaz: 18 câmeras, que cobrem a maioria dos corredores e das entradas. Deduzi que ninguém se arriscaria a arrombar aquele cadeado durante o dia, porque alguém acabaria vendo. Também deduzi que o arrombamento só poderia ter sido recente, porque não levaria muito tempo até que percebessem um cadeado quebrado, pendurado daquele jeito, e comunicassem o fato à direção. Então usei minha chave para entrar na sala da segurança. Eles arquivam tudo em formato digital. Encontrei a câmera 14, que é a que filma o armário de Ashley, e comecei a ver as imagens da noite anterior ao dia em que encontramos o cadeado quebrado. – Quanto tempo você levou fazendo isso? – perguntei. Colherada abriu um sorriso e pôs os óculos de volta. – Quase nenhum. As câmeras têm sensores de movimento, então passam a maior parte das noites desligadas. Ema encaixou o pen-drive numa entrada USB do laptop. Nós estávamos nos juntando ao redor da tela quando duas mãos surgiram e puxaram o aparelho. – Ei! – disse Ema. – Ora, ora, ora – falou uma voz irritante, que àquela altura já conhecíamos muito bem. – O que temos aqui? Eu me virei e vi Troy segurando o laptop. Buck estava ao seu lado. Atrás dos dois vinha um bando de atletas metidos a durões. Devia ter uns cinco, talvez seis deles. Era difícil saber ao certo. Com aquelas jaquetas esportivas, eles formavam uma grande massa indistinta. – O que vocês querem? – perguntou Colherada. – Bem, Arthur – falou Buck –, e se a gente dissesse que acha você maneiro e quer andar com você? Colherada ficou radiante. – Sério? – Devolvam meu laptop – falou Ema. Eles a ignoraram. Tentei pensar na melhor forma de lidar com a situação. – Sério, a gente quer andar com você – disse Troy para Colherada. – Você tem todas as manhas, está sempre na atividade. Colherada empurrou os óculos para cima. – Hã? – É, na atividade – falou Troy. – Tipo atividade intestinal. Porque você não cheira a outra coisa. Troy levantou a mão para que batessem nela. Buck seguiu a dica. O bando de atletas metidos a durões soltou risadas debochadas. Colherada parecia ter acabado de levar um tapa. Eu me levantei. – Muito engraçado. Agora nos devolva o laptop. Troy abriu um sorriso afetado e se aproximou um passo de mim. – Vai me encarar? – Ele vai! – gritou Colherada, com pequenas lágrimas nos olhos. – Na próxima vez que olhar dentro de uma privada. Eu olhei de volta para Colherada e franzi as sobrancelhas, como se dissesse: Por favor, também não precisamos descer ao nível deles. Troy apontou para Colherada. – Quer que eu arrebente você, Arthur? – Meu nome é Colherada! – O quê? – É o meu apelido. Colherada – disse ele, apontando para Ema. – Como o apelido dela é Ema – completou, e então apontou para Buck. – E o dele é Bebê Mijão. – Mas que... – rosnou Buck, ficando com o rosto vermelho. – Eu vou acabar com a sua raça. Eu me coloquei entre eles e Colherada. – Por que não resolvem isso comigo? – falei. A cabeça de Buck girou na minha direção. – Está a fim de morrer também? – Não – respondi. – Neste momento, só quero o laptop de volta. – Já que você quer tanto – falou Troy, equilibrando o laptop na mão direita, balançando-o e colocando seu rosto tão perto do meu que senti o cheiro dos ovos mexidos que ele havia comido no café da manhã –,venha pegar. Foi o que eu fiz. Quando aprendi artes marciais no Brasil, nós praticamos bastante as técnicas de desarmamento. Naturalmente, sempre me orientaram sobre nunca fazer isso, sobre ser muito mais inteligente fugir do que tentar desarmar um inimigo. Mas, caso fosse encurralado ou forçado a agir dessa forma, eu sabia o que fazer. O segredo é pegar o adversário de surpresa. Se ele notar que você pretende tomar a arma dele, sinto muito, mas, apesar do que se vê nos filmes de kung fu, será quase impossível desarmá-lo sem acabar ferido. Nesse caso, é claro, não se tratava de uma arma perigosa. Então eu fui com tudo. Quando Troy se distraiu, simplesmente arranquei o laptop, que ele nem estava segurando tão forte. Mas tinha outra coisa conspirando a meu favor ali: a minha genética. Não é um mérito meu, simplesmente nasci assim. Meu pai era um atleta nato, embora nunca tivesse gostado do lado competitivo dos esportes. Meu tio tinha sido um jogador de basquete de nível profissional. Minha mãe, uma grande tenista. Então eu estava bem servido dos dois lados da mistura genética. Nasci tendo agilidade e boa coordenação motora. Por mais que uma pessoa se dedique ou que seus pais tentem forçar a barra, esse não é o tipo de coisa que se possa aprender. Por um instante, Troy e Buck não se moveram. Devolvi o laptop a Ema depressa, sem desgrudar os olhos do meu oponente (outra lição que tinha sido martelada na minha cabeça). Eu me virei, preparando-me para o que viesse. Sabia que alguma coisa eles iriam fazer. Troy era o veterano popular e tinha sido humilhado por mim, um reles novato na escola. Putz, aquela seria uma longa temporada de basquete. Ele estava prestes a voar para cima de mim quando Ema falou: – Troy? – Que foi? – Já entendi o verdadeiro motivo por que você está sempre perturbando a gente – disse Ema, batendo seus cílios negros para ele. – Será que você, sei lá, não está meio a fim de mim? – Hã? Ficou maluca? – Roubar meu laptop desse jeito... está me cheirando a paquera – sugeriu ela e piscou um pouco mais, bancando a sedutora. – Rachel Caldwell não está interessada em você, mas, quem sabe, talvez eu esteja. É verdade que vou ter que ignorar o sentido da visão, sem falar no olfato, para achar você atraente, mas... Troy me agarrou pela gola da camisa. Entrei na dele, deixando meu corpo um pouco mole, como se estivesse assustado. – É melhor ficar fora do meu caminho, Bolitar. Está me ouvindo? – Ei – eu disse, levantando as mãos e fingindo me render. – Não fui eu que vim até aqui para dar em cima de uma amiga sua. Foi a gota d’água para Troy. Mantendo uma das mãos em minha camisa, ele jogou o outro punho cerrado para trás, quase como se estivesse se preparando para lançar uma bola de beisebol. Era um movimento clássico e, quando ele atormentava caras como Colherada, devia até funcionar. Mas era uma idiotice. A distância mais curta entre dois pontos é uma reta e você deve mirar nas áreas mais frágeis: nariz, garganta, virilha, olhos. Não se perde tempo puxando o punho tão para trás. Eu tinha vários golpes para escolher naquela situação, mas decidi usar o que causaria menos estrago. Rapidamente, prendi a mão de Troy contra meu peito, agarrando-a pelos dedos e pressionando o antebraço dele com o meu. Então girei o corpo para a direita, fazendo-o desequilibrar-se um pouco. A parte final do golpe (tudo isso, na verdade, levou menos de um segundo) foi uma banda. Troy desabou no chão. Eu não sabia o que poderia acontecer em seguida, se ele seria burro o suficiente para tentar se levantar ou agarrar minhas pernas, mas fiquei preparado. – O que está havendo aqui? Era a Sra. Owens. Eu me afastei de Troy. Ele se levantou com tanta dignidade quanto conseguiu juntar, tentando manter um ar de “eu ia acabar com a sua raça agora”. Não o desafiei. – Eu perguntei o que está havendo aqui – repetiu a professora. Um monte de “nadas” saiu em murmúrios. Troy, Buck e o bando de atletas metidos a durões sumiram. A Sra. Owens me fuzilou com o olhar por um instante e então foi embora também. Ema parou do meu lado. – Entrar em uma briga com um veterano popular. Irritar uma professora e o chefe de polícia... Andar com dois fracassados de marca maior – enumerou ela, dando-me um tapinha nas costas. – Bem-vindo ao ensino médio. Ainda tínhamos tempo antes que o sinal tocasse. Nós três tornamos a nos juntar em volta do laptop de Ema.
Ela clicou no ícone do vídeo. O corredor B da escola apareceu na tela. Eu esperava que a filmagem fosse granulada e em preto e branco, mas parecia ser em alta definição. Ema apertou o PLAY e um homem surgiu. Não era um professor. Não era um aluno. Não era um funcionário. Parecia um marginal, sem tirar nem pôr. Tinha a barba por fazer, usava calça jeans caída e camiseta, com correntes de ouro grossas pendendo do pescoço. Levava um pé de cabra na mão direita. Também tinha uma tatuagem no rosto. Olhei para Colherada. – Tatuagem no rosto. A Sra. Kent não falou que o homem que invadiu a casa dela tinha uma? Colherada assentiu. – Só pode ser o mesmo cara. O que aquele marginal tinha a ver com Ashley? O vídeo não tinha som, mas o silêncio era meio ensurdecedor. Cara Tatuada parou diante do armário e, usando o pé de cabra, detonou o cadeado de Ashley. Abriu a porta e recuou um passo, olhando dentro do armário. Mesmo sem som, dava para perceber que ele estava nervoso e provavelmente xingando. O armário estava vazio. Logo em seguida Cara Tatuada foi embora, furioso. – Isso é tudo – falou Colherada. Ema parou a gravação. – E agora, o que a gente faz? – perguntei. – Mostra isso pra polícia? Colherada empurrou os óculos para cima. – Está de brincadeira, né? – Esse provavelmente é o homem que invadiu a casa dos Kent. Nós temos um vídeo que mostra a cara dele. – Um vídeo que eu roubei da sala de segurança da escola – disse Colherada. – Como a gente vai explicar isso? Eu não confio na polícia – completou. Então se virou para Ema e inflou o peito: – Tenho ficha criminal, sabia? É verdade que as mulheres gostam de homens perigosos? – De homens, talvez – falou Ema. – Mas ele tem razão, Mickey. Você não pode ir à polícia. Pra começo de conversa, isso vai criar problemas para o Colherada. Mas, além disso, você lembra quem é o chefe de polícia nesta cidade? O pai de Troy. Ah, se lembrava. Não só eu tinha um problema com o clã Taylor como estava na cara que tio Myron também não se entendia com eles. – OK, então nós não vamos à polícia – falei. – Mas qual o nosso próximo passo? Ema deu o PLAY novamente e a filmagem reapareceu na tela. Ela clicou numa seta e a imagem começou a voltar em câmera lenta. Então ela a congelou e deu um zoom para que pudéssemos ver melhor a bochecha de Cara Tatuada que tinha a tatuagem. – Tenho uma ideia – disse Ema. – Mas acho difícil que dê em alguma coisa. Colherada e eu indicamos que estávamos ansiosos para ouvi-la. – Eu conheço um cara, um tatuador chamado Agent. Ele fez as minhas tatuagens. – OK – falei. – Enfim, não há muita gente por aqui que goste de tatuagens, de forma que todo mundo conhece todo mundo. Esses tatuadores são artistas e esse parece ser um trabalho bastante especial. Então, o que estou pensando é que a gente devia mostrar esta imagem ao Agent. Talvez ele possa nos dizer quem foi o tatuador que a fez. Olhei para Colherada. Ele assentiu, indicando que tinha gostado da ideia. – OK – disse eu. – Vamos nessa. – Só tem um problema – falou Ema. – Não tem nenhuma condução que leve a gente até lá, e é longe demais para ir andando. Vamos precisar que alguém nos leve de carro. – Isso não é problema – falei. Ema franziu a testa: – Como assim? – Eu dirijo. – Mas você ainda não tem idade para isso. – Isso também não é problema – falei. E então o sinal tocou. Na aula de história, a Sra. Friedman tinha uma surpresa para nós. – Como vocês sabem, vamos fazer um projeto sobre a Revolução Francesa – disse ela. – A novidade é que será um trabalho em dupla. Então, por favor, escolham um parceiro. Eu não conhecia ninguém na turma, então achei melhor esperar e pegar quem ficasse para o final. Todos agiram rápido, juntando- se com seus amigos, afobados e com medo de sobrar. Quer dizer, todos menos Rachel Caldwell. Ela olhava para mim e sorria. Embora estivesse sentado, senti meus joelhos bambearem. As pessoas cutucavam o ombro de Rachel, chamavam seu nome, tentavam atrair sua atenção. Ela as ignorava e continuava a me encarar. – E então? – perguntou. – E então o quê? – falei. Eu devia realmente estar surpreendendo com minhas frases matadoras. – Quer ser meu parceiro no projeto de história? – perguntou ela. – Claro – respondi. A Sra. Friedman bateu palmas para chamar a atenção de todos. – Certo, gente, se você já tem um parceiro, junte sua cadeira à dele para podermos começar. Eu me levantei e peguei minha cadeira. Parei por um instante, sentindo-me acanhado, mas então Rachel arrastou a dela um pouco para o lado e fez sinal para que eu me aproximasse. Obedeci. Rachel tinha um perfume de... bem... de garota bonita. Comecei a sentir uma quentura dentro de mim. Minha parceira mantinha a atenção na Sra. Friedman e fazia um monte de anotações. Seu caderno era impecável. Eu tentava ouvir o que a professora estava dizendo (ela estava de fato passando orientações sobre o trabalho), mas as palavras se embaralhavam e perdiam o sentido. Quando o sinal tocou, Rachel se voltou para mim. – Quando você quer que a gente se reúna? – Logo – respondi. – Que tal hoje, depois da aula? Eu me lembrei de que iríamos visitar Agent, o tal tatuador. – Depois da aula eu não posso. Que tal hoje à noite? – Pode ser. Por que você não me liga? – OK, claro. Rachel ficou esperando. Não entendi por quê. Então ela falou: – Você não tem meu telefone. – Ah, é verdade. – É bem capaz de você precisar – disse ela. – Tipo, vai ser difícil me ligar sem ter o número. Eu assenti com toda a minha sabedoria. – Bem pensado. Ela riu. – Me empreste o seu celular. Fiz o que ela pediu, entregando-lhe o aparelho. Ela começou a digitar. – Pronto. – Obrigado. – A gente se fala. Ela me devolveu o telefone e foi embora. – Tchau. Cinco minutos depois, eu estava na mesa do refeitório com Ema. Ela analisou meu rosto e disse: – Qual é a desse sorriso idiota? – Que sorriso idiota? Ela franziu a testa. – Liguei para Agent. Ele pode receber a gente depois da aula. – Ótimo – disse. Depois perguntei: – Você não tem nem 15 anos ainda, tem? – E daí? – Como conseguiu fazer essas tatuagens? Achei que fosse preciso ter no mínimo 18. – Você pode fazer antes, se tiver permissão dos pais. – E você tinha? – Não se preocupe com isso – falou Ema com um quê de irritação na voz. – Como você vai levar a gente de carro até lá sem ter carteira? – Não se preocupe com isso – respondi, imitando seu tom de voz. Ema deu uma mordida em sua baguete. Terminou de mastigar e tentou soar indiferente: – Como foi sua viagem para Los Angeles? – Tudo bem. Mas, depois que você foi embora naquele dia, eu vi nosso amigo da casa de dona Morcega. Contei o que tinha acontecido. Ema era tão boa ouvinte que tornava o processo mais fácil para mim. Enquanto eu falava, era como se o restante do mundo meio que desaparecesse. Não era por ela demonstrar estar dando atenção: você sentia que ela se importava. Quando terminei, Ema disse: – Temos que voltar à casa de dona Morcega. – Não sei, não. – Eles falaram para você não contar a ninguém, certo? – Certo. – Mas você me contou mesmo assim. – É o que parece. Mas o cara disse para eu não contar a ninguém sobre “nós”. Você já sabia a respeito deles. Ela sorriu. – Adoro como você descobre essas brechas. Colherada apareceu e largou sua bandeja com força do nosso lado. – Todos os dias, 200 novas celas de prisão são construídas nos Estados Unidos. Não quero que nenhuma delas tenha meu nome escrito. – Eu já falei – disse eu. – Nós não vamos à polícia. Ele se sentou e começou a comer. Dois minutos depois, ouvi-o murmurar: – Ah. Meu. Deus. Seus olhos se arregalaram como se ele estivesse vendo mortos ressuscitarem. Eu me virei para onde ele estava olhando e vi Rachel Caldwell vindo em nossa direção. Ela trazia um prato de biscoitos. – Oi, pessoal – falou Rachel com um sorriso que não era apenas deslumbrante, mas erguia você no ar, o chacoalhava com força e então o jogava de volta em sua cadeira. Ema fechou a cara e cruzou os braços. – Quer casar comigo? – falou Colherada. Rachel deu uma risada. – Você é um fofo. Ele se derreteu todo. – Não quero incomodar vocês – disse Rachel –, mas nós, animadoras de torcida, estamos fazendo uma venda beneficente de bolos, biscoitos, esse tipo de coisa. Chato, né? – Bastante – falou Ema, sem descruzar os braços. Eu a fuzilei com o olhar. – Enfim, meus biscoitos são uma droga, então ninguém quis comprar, daí eu pensei que, antes de jogá-los no lixo... – Obrigado – disse eu. Ela os largou em silêncio na mesa e se afastou timidamente. – A futura ex-Sra. Colherada – comentou Colherada. Então pensou melhor: – Ou será que ela se chamaria Garfada? Preciso avaliar o assunto. – Faça isso – falei, pegando um biscoito com gotas de chocolate e dando uma mordida. – Até que é bom. Ema revirou os olhos. – É claro que você gosta dos biscoitos dela. Eles poderiam ser feitos de talco e pó de serra que você ainda iria gostar. – É sério, experimente só. – Não, obrigada – ralhou Ema. – Sabe – falei, mastigando o biscoito bastante seco e me perguntando o que poderia tomar para empurrá-lo goela abaixo –, não gostar de alguém, seja quem for, por conta da aparência dele ou dela é leviandade. Ema revirou os olhos ainda mais. – Eu sei – disse ela. – Estou me sentindo péssima por isso. Rachel deve estar arrasada. – Ela me parece legal – disse Colherada. – Estou chocada – falou Ema. Então, olhando para mim: – Sabia que ela já foi namorada seu amigo Troy? Fiz uma careta. – Eca – grunhi. – Mas não é mais, certo? Ela revirou os olhos pela terceira vez. – E ainda vem me falar de leviandade. A animadora de torcida gostosa que sai com o capitão do time de basquete: só dá pra concluir uma coisa disso. – Ela tem razão – disse Colherada, olhando para mim com uma expressão solene e pondo a mão no meu ombro: – Você precisa dar um jeito de virar capitão do time de basquete.
Capítulo 12
DEPOIS DA AULA, COLHERADA Ema e eu fomos andando até a casa de Myron. Eu peguei as chaves na cozinha e nós entramos no Ford Taurus. Fiquei pensando em quando meu pai me ensinou a dirigir. Eu tinha acabado de completar 14 anos e estávamos em um carro antigo, com câmbio manual, na África do Sul. Eu não parava de deixar o carro morrer e papai não parava de rir. “Vá mais devagar com a embreagem”, ele dizia, mas eu não fazia ideia do que aquilo significava. Quando viajávamos para certas partes remotas do mundo, usávamos outras identidades. O documento que estava no meu bolso agora trazia o nome Robert Johnson. Segundo meu pai, quando se faz uma identidade falsa, é melhor usar nomes relativamente comuns, algo que as pessoas não consigam lembrar direito, ou que, se forem pesquisar, gere uma quantidade gigantesca de informações. Robert Johnson era um rapaz de 21 anos, seis a mais que eu. Eu não tinha cara de 21, mas, quando se tem o meu tamanho, geralmente isso passa batido. As identidades eram impecáveis, não sei como. Eu costumava perguntar a meu pai por que precisávamos delas, mas ele sempre dava respostas vagas. “No nosso tipo de trabalho, é fácil fazer inimigos”, disse ele uma vez. “Mas não estamos ajudando as pessoas?”, perguntei. “Estamos.” “Então, como fazemos inimigos?” “Quando você salva uma pessoa, geralmente a está salvando de alguém”, explicou meu pai, desviando o olhar e mordendo o lábio inferior. “Se você está fazendo o bem, muitas vezes é porque alguém fez o mal. Entende o que eu digo?” “Sim.” “E quem faz o mal não tem medo de machucar qualquer um que atrapalhe seus planos”, prosseguiu ele. Não deixava de ser irônico. Meu pai lutava por causas humanitárias e sobreviveu nas regiões mais perigosas e devastadas pela guerra, trabalhando contra os desejos de déspotas e ditadores. Quando finalmente se acomodou na relativa segurança dos Estados Unidos, morreu em um acidente de carro enquanto me levava a uma partida de basquete. Era difícil não ficar com raiva. Tornei a pensar em dona Morcega me dizendo que meu pai ainda podia estar vivo. Talvez esse fosse o motivo de tudo, de encontrar Ashley, do careca do carro preto, da própria dona Morcega. Talvez eu fizesse essas coisas todas só por causa da chance, uma em um milhão, de que ela estivesse falando sério, de ser verdade. – Pegue a direita – falou Ema. – É na Rota 46. Quando estávamos chegando, Colherada começou a dar risadinhas. – O que foi? – perguntou Ema. – O nome do estúdio de tatuagem – respondeu ele. – O que tem? – Tattoos While U Wait – falou Colherada. – Que raio de nome é esse: Tatuagens Enquanto Você Espera? Tipo, tem outro jeito? Dá pra arrancar o braço e dizer: “Toma, põe uma cobra no ombro, que amanhã de manhã eu venho buscar”? É claro que você fica esperando. Ele riu mais um pouco. Ema olhou para mim. – Ele vai ter que ficar no carro – determinou ela. Eu assenti. Colherada concordou em ser nosso “vigia”. O primeiro pensamento que tive ao entrar no Tattoos While U Wait me surpreendeu: limpeza. Esperava me deparar com algo sujo e repugnante, mas o lugar era mais impecável que um consultório médico. Chegava a brilhar. Os funcionários e os clientes pareciam um pouco toscos, com suas calças jeans, camisetas e, bem, todos aqueles piercings e tatuagens. O Tattoos While U Wait poderia ser um salão nobre abrigando uma reunião dos parentes de Ema. – E aí, Ema? – falou a mulher no balcão de atendimento, uma motoqueira clássica. Ela e Ema se cumprimentaram com um soquinho. Fiquei surpreso que também a chamassem de Ema ali, então deduzi que ela havia contado sobre o apelido. Outra ironia. Estava na cara que Ema gostava do apelido que havia ganhado do babaca do Troy Taylor. Encontramos Agent nos fundos. A parede da sala estava coberta de imagens de deuses hindus, muitos deles meditando. O cheiro de incenso fez meu nariz coçar. Uma música suave tocava ao fundo, com uma mulher repetindo “So huum” sem parar, numa espécie de mantra. Agent tinha acabado de fazer uma tatuagem imensa nas costas de um cliente, uma águia cujas asas iam de um ombro ao outro. O homem estava usando dois espelhos para ver o resultado, como se conferisse o pé do cabelo em um salão. – Belo trabalho, Agent – disse o homem. Agent juntou as duas mãos em forma de prece. – Não molhe por duas semanas. E não se esqueça de passar o creme. Você conhece o procedimento. – Sim, conheço. – Maravilha. Quando Agent nos viu, seu rosto se abriu em um sorriso. – Ema! Eles se abraçaram. – Agent, este é meu amigo Mickey. Agent apertou minha mão. A pegada dele era forte e a mão, calejada. Tinha o cabelo ruivo longo puxado para trás e sua barba comprida estava presa como em um rabo de cavalo. Naturalmente, seu corpo era lotado de tatuagens e piercings. – Muito prazer, Mickey – disse ele exagerando um pouco demais na intensidade. – Igualmente. Ele olhou de volta para Ema. – Você trouxe uma foto da tatuagem? Ema fez que sim com a cabeça. Com um vídeo daquela qualidade, Ema havia conseguido um close bem nítido da tatuagem. Ela entregou a imagem a Agent. Ele a olhou por uns dois segundos e disse: – Eduardo. – Hã? – Sem dúvida foi Eduardo quem fez esse trabalho. Ele tem um estúdio em Newark. Quer que eu ligue para ele e pergunte quem a encomendou? – Ele vai dizer? – perguntei. Agent sorriu para mim. – Se eu pedir a informação, sim, Eduardo vai dizer. Não somos advogados, Mickey. Não existe sigilo artista-cliente. É uma simples questão de confiança. Você tem um motivo para estar aqui. O Universo segue um fluxo determinado, um caminho que ele inevitavelmente precisa trilhar. “Aah, tá”, pensei. – Ema veio até este estúdio por um motivo. Acabou me pedindo para ser o tatuador dela. Isso conduziu à sua presença aqui. Entende o que eu digo? “Não”, pensei, enquanto respondia: – Entendo. – Além do mais, Ema tem um espírito puro. Um chacra encantador. Se está dizendo que você precisa encontrar este homem, então você precisa encontrá-lo. É simples assim. Ema ficou vermelha. – Obrigada, Agent. Ele deu uma piscadela. Voltei a me perguntar como eles haviam se conhecido e como, na idade dela, Ema podia ter tantas tatuagens, mas, enfim, eu também tinha meus segredos. – Por favor, esperem aqui – falou Agent – enquanto eu ligo para Eduardo. “Aah, tá”, pensei outra vez. A mulher seguia cantando “So huum”. Caramba, aquilo já estava dando nos nervos. Olhei pela janela. Colherada continuava sentado no carro. – Talvez a gente devesse ter deixado a janela um pouco aberta – falou Ema. – Como se faz com cachorros. Eu sorri. Na nossa frente, um homem fazia uma tatuagem no punho, a agulha raspando a pele. Seus olhos estavam apertados com força, mas lágrimas brotavam deles mesmo assim. Tornei a pensar em Ashley, com suas pérolas e suéteres, e me perguntei como, procurando aquela patricinha linda, eu tinha acabado no estúdio de um tatuador estilo nova era chamado Agent. Outra ironia? – Prontinho – falou Agent, reaparecendo com um floreio. Ele entregou um pedaço de papel a Ema. Nele havia um nome anotado, Antoine LeMaire. O endereço era de Newark. – Obrigada, Agent – disse Ema. – É – falei. – Obrigado. – Eu me juntaria a vocês nessa jornada – disse Agent –, mas tenho outro compromisso. – Trabalho? – perguntou Ema. Agent balançou a cabeça: – Aula de ioga. – Você ainda está com Swami Paul? – quis saber Ema. – Não. O calor daquelas sessões de Bikram estava afetando meu chacra vermelho. Eu ficava nervoso o tempo todo. Agora ioga para mim é a Kundalini. Você deveria experimentar. Vocês dois, na verdade. Quero dizer, olhem só pra mim – disse, abrindo os braços. – Estou todo branco ultimamente. Aah, tá. Começamos a seguir em direção à porta quando Agent me chamou: – Mickey? Eu me virei. – Você é como Ema: tem um espírito puro. Possui centros de energia abençoados e um equilíbrio verdadeiro. Você é um protetor, cuida das outras pessoas. É como um refúgio para elas. – Hã, obrigado. – E, por causa disso, possui certa sabedoria. Compreende que não sabe nada a respeito deste homem que está buscando. Deve ter cuidado antes de levar outras pessoas até ele. Agent me fitou nos olhos e eu entendi o que ele queria dizer. Concordei, balançando a cabeça. – Valeu pelo toque. Ele fez uma pequena mesura para mim. – Já pensou em fazer uma tatuagem? Ficaria bem em você. – Acho que não combina muito comigo – falei. – É – disse Agent, com seu sorriso mais sábio estampado no rosto. – Você deve ter razão.
Capítulo 13
QUANDO VOLTAMOS AO CARRO, Ema falou: – Coloque o endereço no GPS. – Não – respondi. – O quê? Eu tinha entendido o alerta de Agent, mas acho que nem precisava dele. O que eu sabia sobre Antoine LeMaire era o seguinte: ele havia invadido uma escola e arrombado o armário de Ashley. Tinha entrado na casa do Dr. Kent e o agredido. Em suma, tudo indicava que ele era um homem perigoso. Eu podia assumir riscos, isso era problema meu, mas não iria arrastar Colherada e Ema para aquela zona de perigo. Isso seria, hã, um chacra vermelho. – Está ficando tarde – falei. – Vou deixar vocês em casa. – Tá de brincadeira – disse Ema. – Não. Nós não vamos atrás dele depois de escurecer. – Talvez a gente devesse parar naquela loja de lâmpadas antes – falou Colherada. – Hein? – Para comprar uma lanterna pro Mickey – continuou Colherada. – Com essa coisa de ele ter medo do escuro e tal. Ema sorriu. – É, Mickey, você precisa de uma lanterninha? Quer um cobertorzinho também? Eu simplesmente olhei para ela. Ela encolheu os ombros como se pedisse desculpas e falou: – Deixe Colherada primeiro. Foi o que fiz. Colherada me orientou até um pequeno prédio com duas residências nas cercanias de Kasselton. Havia uma caminhonete parada na entrada para carros, com uma logomarca na lateral mostrando dois esfregões cruzados. Uma graça. Quando estacionamos, a porta da frente se abriu. Um homem e uma mulher na casa dos 40 apareceram. O homem usava uniforme de faxineiro. A mulher, terninho. O homem era branco. A mulher, negra. – Mamãe! Papai! – gritou Colherada. Ele subiu correndo a varanda e todos se cumprimentaram como se um deles fosse um refém que houvesse sido libertado alguns minutos atrás. Ema e eu ficamos observando em silêncio. Senti uma pontada de inveja, seguida de uma pontada de responsabilidade maior ainda. Olhe só aquele garoto e os pais que o adoram. Eu não poderia correr o risco de colocá-lo em perigo, e nem a Ema. Colherada apontou para o carro. Os pais sorriram e acenaram para nós. Ema e eu acenamos de volta. – Nossa, olhe só para eles – falou Ema. – É, eu sei. Os três entraram em casa. – Então, qual é o plano? – perguntou Ema. – Nós dois vamos para casa, fazemos uma pesquisa na internet e vemos o que conseguimos descobrir sobre nosso amigo tatuado Antoine LeMaire. Depois nos encontramos de manhã e discutimos o que fazer. – Me parece bom – concordou ela, puxando a maçaneta. – Nos vemos amanhã. – Espere, posso deixar você em casa. – Não precisa – disse Ema. – Você mora perto daqui? – Perto o suficiente. Tchau. – Espere. Ela não esperou. Saiu do carro e começou a descer a rua. Cogitei segui-la, mas ela logo entrou à direita e sumiu no bosque. Pensei em forçar a barra, sair do carro e correr atrás dela, mas... Eu tinha meus segredos. Ema também não tinha direito de ter os seus? Então fiquei preocupado, achando que meu tio Myron já poderia ter chegado em casa. Como eu explicaria o fato de estar com o carro? Ele sabia que eu tinha uma identidade falsa. Quando me encontrou morando com minha mãe naquele estacionamento de trailers, eu trabalhava em uma papelaria da região usando o nome Robert Johnson. Mesmo assim, acho que ele não gostaria de saber que fui dirigindo até um estúdio de tatuagens, ou a qualquer lugar, por sinal. Pus o carro na garagem, peguei algo para comer e desci até o porão. Pesquisei “Antoine LeMaire” no Google, mas não consegui nada de útil, nem mesmo um perfil no Facebook ou uma conta no Twitter. Quase nada. Digitei o endereço num site de mapas. A julgar pela foto de satélite, a região parecia bem decadente. Também pude ver que o lugar ficava bem ao lado de um estabelecimento chamado Go-Go Lounge Plano B. Franzi as sobrancelhas e tornei a me perguntar aonde minha busca por Ashley estava me levando. Olhei para os astros do basquete na parede: – O que tudo isso tem a ver com Ashley? – perguntei em voz alta. Os pôsteres não responderam. Escutei barulhos no andar de cima e então ouvi Myron gritar: – Mickey? – Dever de casa! – gritei de volta. “Dever de casa” é uma expressão muito útil para manter adultos indesejados longe. É só dizê-la que seus pais deixam você em paz. Funciona melhor do que crucifixo contra vampiro. Baixei os olhos para a minha mesa. Meu laptop estava surrado de tanto viajar. Papai o comprara três anos atrás, quando estávamos no Peru, e ele tinha viajado pelo mundo várias vezes conosco. Engraçado. Não tenho nada que tenha pertencido ao meu pai. Ele me ensinou que os bens materiais são irrelevantes. Um anel não é meu pai. Um relógio não é meu pai. Nenhuma dessas coisas poderia me confortar. Como ele havia me explicado, era impossível encontrar alegria de verdade numa “coisa”. Mas, estranhamente, aquele laptop era mais pessoal, mais “meu pai” do que qualquer outro objeto. Papai passava tempo naquele computador. Tinha escrito cartas, trabalhado em relatórios, buscado informação naquela máquina. Eu pensava nisso às vezes, nas mãos dele naquele teclado. Cada um de nós – papai, mamãe e eu – tinha sua própria pasta. Cliquei na dele e reorganizei os arquivos de modo que os que houvessem sido abertos mais recentemente apareceriam primeiro. Por um instante, fiquei surpreso ao ver que um deles tinha sido acessado apenas seis semanas atrás, mas então me lembrei. Tio Myron havia vasculhado aquele computador, procurando pistas do que havia acontecido ao irmão. O último arquivo que tinha aberto – o mais recente – era chamado “Carta de Demissão”. Cliquei nele e o documento surgiu na tela: Para: Abrigo Abeona
Caro Juan, Velho amigo, é com o coração pesado que renuncio ao meu cargo em sua maravilhosa organização. Kitty e eu sempre seremos seus leais defensores. Acreditamos muito nessa causa e nos dedicamos muito a ela. Na verdade, ganhamos mais do que oferecemos aos jovens que ajudamos. Seremos para sempre gratos. Mas chegou a hora da itinerante família Bolitar sossegar. Arrumei um emprego em Los Angeles. Kitty e eu gostamos de ser nômades, mas já faz muito tempo que não paramos em um lugar por um período suficiente para criar raízes. Acho que nosso filho Mickey precisa disso. Ele não pediu para viver assim. Passou a vida inteira viajando, fazendo amigos para em seguida perdê-los, e nunca teve um lar de verdade. Ele agora precisa de normalidade e de uma chance para se dedicar a suas paixões, sobretudo o basquete. Então, depois de muito conversar, Kitty e eu decidimos que teremos um endereço fixo pelos próximos três anos, até que Mickey termine o ensino médio, de forma que ele possa tentar uma faculdade. Depois disso, quem sabe? Nunca imaginei esta vida para mim. Meu pai costumava citar um provérbio iídiche: o homem planeja e Deus ri. Kitty e eu esperamos um dia poder voltar. Sei que ninguém realmente abandona o Abrigo Abeona. Sei que estou fazendo um pedido e tanto, mas espero que você entenda. Enquanto isso, faremos tudo o que pudermos para facilitar a transição. Seu irmão, Brad
Li a carta mais duas vezes. As lágrimas embaçaram meus olhos. Ouvi um barulho no andar de cima, mas o ignorei. Acho que já sabia de grande parte do que a carta dizia. Não havia nenhuma surpresa ali. Mas ver tudo escrito daquele jeito, exposto de forma tão clara pelo meu falecido pai, me dava um aperto no coração. Sim, eu estava cansado das viagens constantes. Queria uma vida normal em um lugar onde pudesse ficar no time de basquete da escola por toda a temporada, testar meu jogo com colegas de equipe, fazer amizades duradouras, ficar num colégio só, talvez tentar entrar para uma faculdade. Bem, parabéns, Mickey. Você conseguiu o que queria. Pensei em nossa vida na época em que meu pai escreveu aquela carta. Era ótima, não era? Mamãe e papai eram pessoas felizes e apaixonadas. Agora, graças aos meus desejos, papai estava morto e a única coisa que despertava paixão em mamãe saía de uma agulha. E a verdade – incontestável, quando você a encarava honestamente – era que a culpa era minha. Belo trabalho, Mickey. A porta do porão se abriu atrás de mim. Myron chamou meu nome: – Mickey? Eu sequei os olhos. – Dever de casa! – Você tem visita – disse meu tio com um tom de voz alegrinho, cantarolado. – Hã? Ouvi passos descendo as escadas. – Tem uma jovem aqui procurando por você – completou ele no mesmo tom cantarolado. Eu me virei para trás. Myron chegou ao pé da escada com o sorriso mais rasgado, pateta e babaca que eu já tinha visto na cara de um ser humano. Atrás dele, entrando ao mesmo tempo no meu campo de visão, vinha Rachel Caldwell. – Oi – falou ela. – Oi – disse eu. O romance em pessoa. Myron sorriu para nós como um apresentador de programa de auditório. – Querem que eu prepare uma pipoca para vocês? – Não, obrigado – respondi na mesma hora. – E quanto a você, mocinha? Mocinha? Tive vontade de morrer. – Não, mas obrigada, Sr. Bolitar. – Pode me chamar de Myron. Ele continuou parado ali, sorrindo como o imbecil mais satisfeito do mundo. Eu o encarei, arregalando um pouco os olhos para que ele entendesse a deixa. Ele entendeu. Todo sem jeito. – Ah, está bem – falou ele. – Melhor eu deixar vocês dois sozinhos, então. Vou voltar lá pra cima. Myron apontou para as escadas com o polegar. Como se não soubéssemos o que “lá pra cima” significava. – Ótimo – falei, esperando incentivá-lo a ir logo. Tio Babaca deu um passo e então tornou a se virar na nossa direção. – Hã, hum, se não se importarem, e mesmo que se importem, vou deixar a porta do porão aberta. Não que eu não confie em vocês, mas acho que os pais de Rachel não gostariam que... – Está bem! – falei, interrompendo-o. – Deixe a porta aberta. – Não que eu sinta necessidade de monitorar vocês ou coisa parecida. Tenho certeza de que os dois são muito responsáveis. Eu me perguntei se algum dia na vida me sentiria mais humilhado do que naquele momento. – Obrigado, Myron. Tchau. – Se mudarem de ideia quanto à pipoca... – Você será o primeiro a saber – eu disse. – Tchau. Myron finalmente subiu as escadas. Eu me virei para Rachel, que estava contendo uma risadinha. – Desculpe por meu tio babaca. – Ele me pareceu legal – falou Rachel. – A propósito, todo mundo na sua família tem mais de dois metros de altura? Lembre- me de usar sapatos de salto quando vier à sua casa. Eu ri, talvez um pouco mais forte do que devia, mas precisava de uma gargalhada. – Tenho duas provas na semana que vem – disse Rachel –, então pensei que talvez pudéssemos dar uma adiantada no trabalho sobre a Revolução Francesa. – Claro – respondi. Rachel correu os olhos pelo porão. Os pôsteres de Myron. A lâmpada de lava (sim, ele tinha uma). Os pufes do meu tio. – Legal o seu quarto. – É do meu tio. – Sério? – É. Estou aqui temporariamente. – Onde morava antes? – Em toda parte – falei. – Bela resposta evasiva – disse Rachel. – Estou tentando dar uma de misterioso. – Precisa se esforçar mais. Gostei da maneira como ela disse isso. – Então, Sr. Misterioso, o que você estava fazendo perto do armário da sua namorada ontem? Quase falei “Ela não é exatamente minha namorada”, mas me contive. – Só estava conferindo uma coisa – disse. – Que coisa? – Você conhece Ashley? – perguntei. – Não, só de vista. Não sabia quanto deveria contar. Rachel me olhou com seus olhos azuis profundos. Um rapaz poderia mergulhar neles e nunca mais achar o caminho de volta. E ser feliz assim. – Ela saiu da escola – falei. – Quero dizer, não a vejo nem tenho notícias dela há uma semana. Não sei para onde foi. – Então achou que o armário dela... – Sei lá. Achei que talvez houvesse uma pista ou coisa parecida nele. Rachel pareceu refletir sobre o assunto. – Ashley é nova na escola, não é? – É. – Então talvez tenha apenas mudado de cidade. – Pode ser – falei. – Tudo bem aí embaixo? – gritou Myron do andar de cima. – Alguém quer pipoca ou suco de maçã? Suco de maçã? Rachel sorriu para mim. Senti meu rosto ficar vermelho. – Mickey? – Myron tornou a gritar. – Dever de casa!
Capítulo 14
MAIS TARDE NAQUELA MESMA NOITE, quando eu já estava me preparando para dormir, recebi um torpedo de Ema: vc pode sair? Eu: posso. o q houve? Ema: vi uma coisa no bosque atrás da casa da d. morcega. acho q a gente devia investigar. “Agora?”, pensei. Mas, por outro lado, não havia horário melhor. A escuridão seria útil para nos ocultar, imaginei. Dificilmente conseguiríamos chegar perto do quintal durante o dia sem sermos vistos. Vesti um moletom, peguei uma lanterna e fui em direção à porta da frente. Quando estendi a mão para girar a maçaneta, ouvi uma voz atrás de mim: – Aonde você vai? Era Myron. – Vou sair – respondi. Ele olhou teatralmente para o relógio. – Está tarde. – Eu sei. – E amanhã você tem aula. Detestava quando meu tio tentava bancar o pai. – Obrigado pela lembrança. Mas não devo demorar. – Acho que você deveria me dizer aonde vai. – Só vou encontrar uma amiga – falei, na esperança de que isso encerrasse o assunto. Não tive tanta sorte. – É aquela menina que esteve aqui mais cedo, Rachel? – perguntou meu tio. Eu precisava cortar aquilo pela raiz. – Nós fizemos um acordo quando eu vim morar aqui – argumentei. – Parte dele era que você não se meteria na minha vida. – Nunca concordei em deixar você sair a qualquer hora da noite. – Bem, na verdade concordou. Só vou encontrar uma amiga. Não tem nada de mais. Então saí às pressas, antes que ele pudesse contra-argumentar. Sabia que Myron estava tentando fazer a coisa certa, mas se tinha uma pessoa que nem deveria tentar era ele. Encontrei Ema um quarteirão antes da casa da dona Morcega. – Como você consegue sair tão tarde? – perguntei a ela. – Hã? – Você tem 14 anos e vem para a rua a hora que quiser – falei. – Seus pais não ficam bravos? Ema franziu a testa. – Por quê? Está querendo escrever minha biografia? Franzi minha testa também. – Ótima essa. – É, desculpe, foi péssima mesmo. – Sua biografia... – Eu sei – disse ela. – Já fui mais engraçada. Tipo, antes de começar a andar com você. Nós dois nos viramos e olhamos em direção à casa da dona Morcega. Em uma palavra: sinistra. Já era quase meia-noite. A casa estava totalmente às escuras, exceto por uma luz acesa numa janela de canto no segundo andar. O quarto dela, provavelmente. Uma senhora de idade não deveria estar com todas as luzes apagadas àquela hora? Fiquei imaginando-a sozinha, deitada na cama, lendo, invocando feitiços ou devorando criancinhas. Putz, eu precisava cair na real. – Então, o que você queria investigar? – perguntei a Ema. – Quando estava me escondendo daquele cara careca, vi uma coisa atrás da garagem. – O quê? – Não sei bem – disse ela, como se tentasse encontrar a melhor forma de prosseguir. – Parecia tipo um jardim. Então tive a impressão de ver... Ema se deteve, engolindo em seco. – Tive a impressão de ver uma lápide. O ar estava quente e úmido naquela noite, mas senti um calafrio de repente. – Um túmulo, você quer dizer? – Não sei. Pode ser só uma pedra ou coisa parecida. É por isso que achei que a gente devia investigar. Eu concordei. Também queria dar uma olhada na garagem. Afinal, o que aquele carro estava fazendo ali naquele dia? Se fosse apenas uma visita à dona Morcega (e eu não via motivo para isso), por que não deixar o carro em frente à casa? Para que se dar o trabalho de estacioná-lo naquela garagem minúscula em que mal cabia um veículo? Então me lembrei do meu último encontro com o homem de cabeça raspada. “Meu pai está vivo?” “Conversaremos depois.” Pode ter certeza disso. Mas eu não ia ficar esperando de braços cruzados. Seguimos em direção ao bosque atrás da casa de dona Morcega. As lanternas nos deixavam num dilema. Se as usássemos, alguém poderia nos ver e chamar a polícia. Se não usássemos, bem, não conseguiríamos enxergar nada. Decidimos começar o caminho sem elas. Poderíamos ligá-las quando chegássemos mais perto. Os postes da rua ofereciam claridade suficiente para chegarmos ao início do bosque. Mais uma vez fiquei impressionado ao perceber como as árvores ficavam coladas à porta dos fundos da casa. As luzes do quintal de trás também estavam apagadas. Eu me esgueirei até a porta da cozinha. – O que você está fazendo? – sussurrou Ema. Boa pergunta. Eu não iria invadir a casa outra vez, iria? Principalmente à noite. Ainda assim, algo me atraía até ali. Não sabia o quê. Eu me agachei e espiei pelas janelas do porão. Também estava um breu. Para completar, todas as persianas estavam baixadas. Não conseguia enxergar nada. Pensei na última vez em que havia estado ali, dentro da casa. Pensei naquela fotografia antiga, naquela mesma borboleta que tinha visto na ficha que marcava o túmulo de meu pai. Pensei na luz que se acendera no porão. O que será que havia lá embaixo? Aliás, o que será que havia no andar de cima, naquele quarto em que a luz ainda estava acesa? – Mickey? Era Ema. – Onde fica o tal jardim? – sussurrei. – Atrás da garagem. Por aqui. Entramos no bosque e paramos dois passos depois. Estava escuro demais. Mal conseguia enxergar um palmo diante do nariz. Tínhamos que arriscar. Saquei minha lanterna e mantive o facho de luz no chão. Quando chegamos à garagem, tentei olhar para dentro, mas não havia janelas. – É bem aqui – sussurrou Ema. Lancei um breve olhar para trás. Todas as luzes dos fundos da casa continuavam apagadas. Eu me perguntei se a do quarto lá em cima ainda estaria acesa. Talvez dona Morcega tivesse ido dormir. Ou poderia ter pegado no sono horas atrás e simplesmente se esquecido de apagar a luz. Ou talvez tivesse morrido e por isso a luz tinha ficado acesa. Que beleza de pensamento, hein, Mickey! Ema e eu contornamos a garagem tateando as paredes. Quando chegamos aos fundos, apontei o facho da lanterna para a frente. Mas o quê... Ema tinha razão. Aquilo era um jardim. Não entendo muito de plantas e flores, mas dava para ver que aquele lugar era bem cuidado. O resultado era impressionante: ali, dentro de um matagal quase todo tomado pelo verde, o jardim era uma explosão de cores cultivadas com capricho. Uma cerca de uns 30 centímetros delimitava uma área de mais ou menos cinco metros quadrados. Havia uma trilha no meio, com lindas flores abertas dos dois lados. E ali, no fim do caminho, algo que sem dúvida se parecia com uma lápide. Ema e eu ficamos um instante parados. Tive a impressão de ouvir uma música atrás de mim. Distante. Um rock. Olhei para Ema. Ela também ouvira. Giramos devagar em direção à casa de dona Morcega. As luzes ainda estavam apagadas, mas com certeza a música vinha lá de dentro. Ema se virou para a lápide. – Esse túmulo – disse ela – deve ser de algum animal de estimação, certo? – É – respondi eu, rápido demais. – Mas a gente devia olhar melhor mesmo assim. – É – repeti. Minhas pernas já estavam tremendo a essa altura, mas fui na frente. Seguimos em direção à cerca e passamos por cima dela. Então pegamos a trilha e paramos diante da lápide. Eu me agachei. Ema fez o mesmo. A música continuava baixinha, mas agora eu entendia parte da letra:
“Meu único amor, Nós nunca mais teremos o ontem...” Era um rock e a voz me parecia familiar – Gabriel Wire, do HorsePower, talvez? –, mas eu nunca tinha ouvido aquela canção. Balancei a cabeça para afastá-la e apontei a lanterna para a lápide cinza e desgastada. Por um segundo – uma fração de segundo, na verdade – um pensamento estranhíssimo me ocorreu: o de que veria o nome de Ashley gravado na pedra, que alguém a havia matado e enterrado ali, e que aquele era o final da minha busca. Como disse, esse pensamento durou apenas uma fração de segundo – mas me deixou todo arrepiado. O facho de luz da lanterna iluminou a parte de cima da lápide. Primeira observação: a lápide era velha e gasta. Se tivesse sido posta para um bicho de estimação, o animal estava morto havia muito tempo. Baixei um pouco a lanterna. A segunda coisa que notei na lápide foi que havia, bem... palavras nela. Imaginei que fosse um epitáfio. Eu as li uma vez, depois outra, mas continuei sem entender direito o que significavam:
TRABALHEMOS PARA ENGRANDECER NOSSO CORAÇÃO À MEDIDA QUE ENVELHECEMOS, COMO O CARVALHO ANTIGO OFERECE MAIS ABRIGO
– Faz sentido pra você? A palavra “abrigo” estava em destaque. Por quê? Tornei a pensar no meu pai, na carta de demissão para o Abeona... Para o Abrigo Abeona. Coincidência? Baixei um pouco mais o facho de luz:
AQUI JAZ E. S. UMA INFÂNCIA PERDIDA EM PROL DAS CRIANÇAS
– “Uma infância perdida em prol das crianças” – leu Ema em voz alta. – O que isso quer dizer? – Não sei. – Quem é E. S.? Balancei a cabeça, outra vez sem saber a resposta. – Talvez seja o cachorro dela, ou coisa parecida – arrisquei. – Um cachorro que teve a infância perdida em prol das crianças? Bem pensado. Ema tinha razão. Não fazia sentido. Tornei a descer a luz da lanterna quase até o chão. E ali, em letras pequenas:
A30432
Senti meu sangue gelar. – De onde eu conheço este número? – perguntou Ema. – É a placa do carro preto. – Ah, isso mesmo – disse ela, balançando a cabeça. – Mas o que ele está fazendo aqui? Eu não tinha a menor ideia. – Talvez seja uma data – tentei. – Uma data que começa com a letra A? – Os números. Poderia ser 3 ou 30 de abril ou, invertendo a ordem do mês, 4 de março de 1932. Ema franziu a testa. – Você acha mesmo? Na verdade, não, não achava. Fiquei parado ali, confuso, enquanto Ema dava a volta na lápide usando a luz do celular para ver melhor. A música continuava vindo da casa. Já passava da meia- noite. Que tipo de senhora de idade fica ouvindo rock depois da meia- noite? O mesmo tipo que ainda ouve discos de vinil, que tem uma lápide sinistra no quintal, que recebe visitas estranhas em um carro preto cujo número de placa está gravado na tal lápide sinistra, que diz a um adolescente que seu falecido pai ainda está vivo. – O que é isto? – perguntou Ema. A voz dela me despertou. – O quê? – Aqui – disse ela, apontando para a parte de trás da lápide. – Tem alguma coisa gravada aqui. Dei a volta devagar, mas já sabia o que era. Simplesmente sabia. E, quando parei atrás da lápide e a iluminei com a lanterna, mal fiquei surpreso. Uma borboleta com olhos de animais nas asas. Ema arquejou de espanto. A música na casa parou. Do nada. Como se alguém tivesse apertado um botão na mesma hora em que vi aquela droga de símbolo. Ema olhou para meu rosto e viu algo que a perturbou. – Mickey? Não, não havia surpresa ali. Não mais. O que havia era raiva. Eu queria respostas. E ia consegui-las, custasse o que custasse. Não iria esperar até que o Sr. Cabeça Raspada com seu sotaque britânico entrasse em contato comigo. Ou que dona Morcega aparecesse voando e me desse outra pista cifrada. Eu não iria esperar nem mesmo até o dia seguinte. Conseguiria minhas respostas imediatamente. – Mickey? – Vá para casa, Ema. – O quê? Você só pode estar brincando. Eu me virei e fui andando, furioso, em direção à casa. Saquei minha carteira e comecei a procurar o cartão para tornar a abrir a fechadura. Atrás de mim, Ema perguntou: – Para onde você está indo? – Eu vou entrar. – Você não pode simplesmente... Mickey! Eu não parei. Sim, eu iria arrombar a casa outra vez. Iria revirar tudo e investigar aquele porão. E, se tivesse que subir até o segundo andar e invadir o quarto de dona Morcega para conseguir minhas respostas, faria isso também. – Mickey, tente se acalmar. – Não dá. Ema agarrou meu braço. – Respire fundo, OK? Sacudi meu braço de leve para me libertar. – Aquela borboleta, ou sei lá que droga é aquilo, estava em uma fotografia na casa de dona Morcega... A foto deve ter uns 40 ou 50 anos. E a mesma borboleta estava no túmulo do meu pai. Eu não vou esperar, Ema. Preciso de respostas agora. Cheguei à porta dos fundos e preparei meu cartão de crédito. Tentei deslizá-lo pela fresta como da última vez. Nada feito. O trinco era novo, a maçaneta era outra e haviam posto reforços de aço na porta. Olhei de volta para Ema. – Agiram rápido – comentou ela. – E agora? – Agora você vai embora – respondi. Ela fingiu um bocejo. – Não, acho que não vai rolar. Dei de ombros. – OK, foi você quem pediu. Quando bati à porta, Ema chegou a arquejar e recuar dois passos. Ninguém atendeu. Pressionei minha orelha contra a porta e fiquei ouvindo. Nenhum som. Bati mais forte. Sem resposta. Bati mais forte ainda e acrescentei um grito. – Olá? Dona Morcega? Abra a porta! Abra agora mesmo! Ema tentou me impedir: – Mickey! Decidi ignorá-la. Chutei a porta. Esmurrei-a novamente. Estava pouco me lixando. Podiam reforçá-la quanto quisessem. Eu iria entrar e conseguir minhas respostas de qualquer jeito. Então um facho gigante de luz me atingiu pela lateral. Sei que fachos de luz não “atingem” ninguém, mas foi a sensação que tive. A luz apareceu tão de repente e foi tão forte que dei um pulo para trás, levantando os braços como se quisesse afastar alguém. Percebi o ar se deslocando à minha direita e me dei conta de que Ema estava fugindo. – Parado! – gritou uma voz. Obedeci. Não sabia o que fazer. Eu me perguntei se seria o cara de cabeça raspada, mas não, a voz não tinha sotaque britânico. A luz se aproximou. Ouvi passos atrás dela. Havia mais de um sujeito, possivelmente dois ou três. – Hã, pode baixar a luz? – pedi. A luz continuou bem na minha cara, aproximando-se cada vez mais. Fechei os olhos. Fiquei na dúvida se deveria correr ou não. Não sabia quem eram aquelas pessoas. Eu era rápido. Poderia conseguir fugir. Mas então pensei em Ema. Quem quer que estivesse ali provavelmente a teria ouvido. Se eu saísse correndo, a pessoa iria atrás dela também. Talvez conseguissem alcançá-la. Mas, se continuassem concentrados só em mim, Ema estaria mais segura. – Parado – repetiu o homem, já a poucos metros de distância. Quando deu outro passo, ouvi o som de um rádio ou de um walkie-talkie. Depois, estática, seguida de dois homens falando. Então escutei outros rádios atrás dele. Uma segunda luz me iluminou. – Ora, ora – disse a voz. – Veja só quem temos aqui. Outra tentativa de arrombamento, Mickey? Foi então que reconheci a voz. Chefe Taylor, o pai de Troy. – Eu não estava arrombando nada – falei. – Estava batendo. – É claro que sim. E o que esse cartão está fazendo na sua mão? Ops. Outro policial surgiu ao seu lado. – Precisa de ajuda, senhor? – Não, a situação está sob controle – disse. Então se dirigiu a mim: –Virado e mãos nas costas. Fiz o que ele mandou. Imagino que já deveria esperar, mas de repente senti algemas se fecharem com um estalo em volta dos meus punhos. Taylor se inclinou para mais perto e sussurrou: – Fiquei sabendo que você atacou meu filho quando ele não estava olhando. – Não foi bem assim – retruquei. – Ele só levou uma surra porque implicou com o aluno novo errado. Taylor puxou meus braços com um pouco mais de força que o necessário, me conduzindo para a frente do terreno. Vi duas viaturas policiais. Seguimos em direção a elas. A porta de trás de uma delas se abriu e ele colocou sua mão na minha cabeça e me empurrou para dentro. Olhei de volta para a casa, para a janela onde a luz continuava acesa. A cortina se moveu e, de repente, o rosto de dona Morcega surgiu. Quase gritei. De alguma forma, mesmo de tão longe, mesmo através da janela da viatura, pude ver que ela olhava diretamente para mim, bem nos meus olhos. Sua boca se movia. Ela dizia a mesma coisa sem parar, como um mantra. Fiquei observando-a enquanto o policial se sentava no banco da frente. Dona Morcega repetia as palavras e eu tentava decifrá-las. O motor deu a partida. Começamos a nos afastar. Dona Morcega agora falava com mais urgência, como se quisesse se fazer entender antes que eu sumisse de vista. E então, enquanto ela formava as palavras outra vez, tive a impressão de entender quais eram e o que dona Morcega estava tentando tão desesperadamente me dizer: – Salve Ashley
Capítulo 15
MYRON FOI ME TIRAR da cadeia. Eu estava sentando em uma cela quando chegou um policial para destrancá-la. Parecia encabulado, como se não conseguisse acreditar que o chefe tivesse me prendido. Myron se aproximou como se quisesse me abraçar, mas minha linguagem corporal deve tê-lo afastado, alertando-o de que não seria uma boa ideia. Em vez disso, ele afagou de leve meu ombro. – Obrigado – murmurei. Myron assentiu. Enquanto saíamos, Taylor bloqueou nosso caminho. Myron meio que me empurrou para trás de si, tomando as rédeas da situação. Ele e Taylor ficaram se encarando pelo que pareceu uma eternidade. Lembrei do meu primeiro encontro com o policial, na casa da família Kent: “Engraçadinho. Igual ao tio.” – Agora que seu sobrinho está acompanhado de um adulto – disse Taylor enfim –, eu gostaria de fazer algumas perguntas a ele. – Sobre? – perguntou Myron. Eu não estava apenas vendo a antipatia que aqueles dois tinham um pelo outro – dava até para senti-la. – A casa da família Kent foi arrombada. Seu sobrinho foi encontrado nas imediações do crime. Queremos lhe fazer algumas perguntas a respeito. E também sobre a tentativa de arrombamento desta noite. – Arrombamento? – repetiu Myron. – Exato. – Sendo que ele bateu à porta e não chegou a entrar na residência. – Eu disse tentativa de arrombamento. Além de invasão de propriedade. – Não – disse Myron. – Não houve invasão nenhuma. Ele estava batendo à porta de uma casa. – Não venha me explicar a lei. Myron balançou a cabeça e começou a se encaminhar para a porta. Taylor voltou a bloquear seu caminho. – Aonde você pensa que vai? Achei que tivesse deixado claro que quero fazer algumas perguntas ao seu sobrinho. – Ele não vai falar com você. – Quem disse? – O advogado dele. Taylor encarou Myron como se ele fosse o cocô da cavalo do bandido. – Ah, tinha me esquecido. Depois que estragou sua carreira no basquete, você se tornou um advogado de meia-tigela. Myron apenas sorriu para ele. – Estamos de saída. – É assim que você quer jogar? Então vou ter que fazer uma acusação formal contra ele. Talvez prendê-lo aqui até amanhã. Myron olhou para trás do homem. Havia mais dois policiais parados diante da porta. Eles olhavam para o chão. Também não era assim que queriam jogar. – Vá em frente – falou Myron. – Vão rir da sua cara no tribunal. – Quer mesmo seguir por esse caminho? – perguntou Taylor. “Não”, pensei. – O que meu sobrinho fez não é crime – disse Myron, aproximando-se um pouco de Taylor. – Mas sabe o que foi crime, Eddie? O policial Taylor – ou Eddie – ficou calado. – Aquela vez, no ensino médio, em que você tacou ovos na minha casa – prosseguiu Myron. – Lembra, Eddie? A polícia pegou você, mas não o arrastou para a delegacia desse jeito. Em vez disso, levou você para casa. Ou aquela vez em que o chefe Davis pegou você arremessando garrafas de cerveja contra o muro da escola. Muito macho, quebrando garrafas, até Davis aparecer. Lembra como você chorou como um bebê... – Cale a boca! – ...quando ele ameaçou colocá-lo dentro da viatura? – Myron se voltou para mim. – Você chorou, Mickey? Eu balancei a cabeça. – Bem, o chefe Taylor chorou. Como uma criança de três anos. Ah, sim, eu me lembro como se fosse hoje. Você chorou... Taylor estava vermelho como um carro esporte. – Cale a boca! Os outros dois policiais estavam dando risadinhas. – Mas, mesmo assim, o chefe Davis só levou você para casa – continuou Myron. – Não o algemou. Não arrastou você até a delegacia por ter uma rixa com seu tio, o que, para ser franco, é uma baita de uma covardia. Taylor prendeu a respiração. – Você acha que é isso o que está acontecendo aqui? Myron se aproximou mais um passo. – Eu sei que é. – É melhor recuar um passo, Myron. – Ou? – Quer mesmo que o chefe de polícia se torne seu inimigo? – Ao que me parece – falou Myron, fazendo-me passar por Taylor e nos conduzindo em direção à saída –, ele já é. Seguimos rumo ao estacionamento sem falar nada. Quando chegamos ao carro, Myron perguntou: – Você fez alguma coisa ilegal? – Não. – Você me perguntou sobre a casa de dona Morcega, depois resolveu visitá-la no meio da noite... Não respondi nada. – Quer me contar alguma coisa? – perguntou Myron. Pensei um pouco. – Não, agora não. Myron fez que sim com a cabeça. – Então, está bem. Isso foi tudo. Ele não fez mais perguntas. Apenas deu a partida no carro e nós voltamos para casa em um silêncio que, para variar, pareceu até confortável. Naquela noite, quando o sonho chegou, meu pai ainda estava vivo. Ele está com uma bola de basquete na mão e sorri para mim. – Oi, Mickey. – Pai? Ele faz que sim com a cabeça. Sou inundado por uma felicidade e uma esperança tão grandes que quase choro de alegria. Corro em sua direção, mas ele desaparece de repente. Está atrás de mim. Torno a correr na direção dele, que some outra vez. Então começo a entender. Percebo que talvez eu esteja sonhando e, quando acordar, meu pai estará morto novamente. O pânico toma conta de mim. Eu corro mais rápido. Dou um salto para a frente e consigo agarrá-lo. Abraço meu pai com todas as minhas forças e, por um instante, ele me parece tão real que chego a pensar: “Não, espere um instante, isto é a realidade! Meu pai está vivo! Ele não morreu!” Mas, enquanto penso isso, começo a sentir que não consigo mais segurá-lo. Atrás dele, vejo o paramédico louro de olhos verdes. Ele está me lançando aquele mesmo olhar carregado. Eu grito “Não!” e abraço meu pai mais forte, enterrando o rosto no peito dele. Começo a chorar em sua camisa azul favorita. Mas meu pai está desaparecendo. Já não consigo ver seu sorriso. – Não! – grito outra vez. Fecho os olhos e tento me agarrar a ele, mas é inútil. É como tentar segurar fumaça. O sonho está terminando. Sinto que começo a recobrar a consciência. – Por favor, não me abandone – falo em voz alta. Acordei suado e ofegante no quarto do porão. Quando levei a mão ao rosto, pude sentir as lágrimas nele. Engoli em seco, sentindo um nó na garganta, e saí da cama. Tomei um banho e fui para a escola. Rachel e eu trabalhamos um pouco mais em nosso projeto durante a aula de história. Depois de um tempo, ela perguntou: – Qual o problema? – Nada. Por quê? – Você acabou de dar, tipo, seu quinto bocejo. – Desculpe. – Isso poderia deixar uma garota complexada. – Não é pela companhia – falei. – É só que dormi muito mal esta noite por causa de um sonho. Ela me encarou com aqueles olhos azuis enormes. Sua pele era impecável. Tive vontade de estender a mão e tocar seu rosto. – Posso fazer uma pergunta pessoal? – disse ela. Assenti de leve com a cabeça. – Por que você mora com seu tio? – Você quer dizer por que não moro com meus pais? – Isso. Não desgrudei os olhos da carteira, encarando a imagem de um pretensioso Robespierre do início de 1794. Imaginei se, com toda aquela pompa, ele não teria sequer a menor suspeita do que os meses seguintes lhe reservavam. – Minha mãe está em uma clínica de reabilitação – respondi. – Meu pai morreu. – Ah – fez Rachel, levando a mão à boca. – Desculpe. Não queria ser intrometida ou... A voz dela falhou. Eu levantei a cabeça e consegui dar um sorriso. – Tudo bem – falei. – Foi com isso que você sonhou, com seus pais? – Meu pai – respondi, para minha própria surpresa. – Posso perguntar como ele morreu? – Acidente de carro. – Foi com isso que você sonhou? “Chega”, pensei. Mas disse: – Eu estava junto. – No acidente? – É. – Você estava no carro? Fiz que sim com a cabeça. – E se machucou? Eu tinha quebrado algumas costelas e passado três semanas no hospital. Mas a dor não era nada se comparada ao que senti vendo meu pai morrer. – Um pouco – falei. – O que aconteceu? Eu conseguia visualizar a cena como se estivesse acontecendo naquele mesmo instante. Nós dois no carro, rindo, com o rádio ligado. O impacto repentino, o estalo na cabeça, o sangue, as sirenes. Quando acordei, não conseguia me mexer. Tudo o que via era o paramédico louro atendendo o meu pai, que parecia parado demais. Eu estava preso no banco ao lado, enquanto um bombeiro tentava me libertar cortando as ferragens. Então o paramédico ergueu os olhos para mim. Eu me lembrava de seus olhos verdes com os círculos amarelos em volta das pupilas – e eles pareciam me dizer que nada jamais voltaria a ser como antes. – Ei, não faz mal – disse Rachel com a voz mais gentil do mundo. – Nós estamos só fazendo um trabalho de história juntos, você não precisa me revelar todos os seus segredos, OK? O sinal tocou e eu assenti, agradecido, afastando da cabeça a imagem do paramédico. Durante o almoço, Ema e eu contamos a Colherada sobre nossa visita noturna à casa de dona Morcega. Ele pareceu ficar magoado. – E não me chamaram? – Eram umas duas da manhã – falei. – Achamos que você estivesse dormindo. – Como assim? Sou do tipo que passa a noite inteira na balada. – Sei – disse Ema. – Aliás, seu pijama é de pezinho? Colherada uniu as sobrancelhas. – Diga de novo o que estava escrito naquele epitáfio – pediu ele. Ema lhe entregou seu celular. Ela havia tirado uma foto da lápide.
TRABALHEMOS PARA ENGRANDECER NOSSO CORAÇÃO À MEDIDA QUE ENVELHECEMOS, COMO O CARVALHO ANTIGO OFERECE MAIS ABRIGO.
Dois minutos depois, Colherada falou: – É uma citação de Richard Jefferies, um escritor naturalista inglês do século XIX famoso por suas descrições da vida rural britânica em ensaios, livros de história natural e romances. Nós o encaramos. – Que foi? Só joguei a citação no Google e li a biografia dele na Wikipedia. Não tem nada sobre esse negócio de infância perdida em prol das crianças, então não sei do que se trata, mas posso pesquisar melhor mais tarde. – Boa ideia – disse eu. – Por que não nos encontramos depois da escola e vamos à biblioteca? – sugeriu Ema. – Podemos ver também o que conseguimos encontrar sobre dona Morcega no arquivo municipal. – Hoje eu não posso – falei. – Ah, não? – Tenho um jogo de basquete – expliquei. Não quis entrar em detalhes, mas tinha um plano. Eu iria para Newark de ônibus como de costume. Talvez até jogasse um pouco com Tyrell e a galera. Depois, com Ema e Colherada a salvo na cidade, iria visitar Antoine LeMaire no endereço perto do Go-Go Lounge Plano B. Foi o que fiz. Assim que saí da escola, segui para o ponto de ônibus na Northfield Avenue e peguei o 164. Primeiro, saquei meu celular. Eu tinha uma foto de Ashley com seu suéter de patricinha e seu sorriso tímido. Coloquei-a como papel de parede para que ficasse à mão caso precisasse mostrá-la a alguém. Estava chuviscando um pouco, de modo que havia menos gente do que o normal no basquete. Tyrell não tinha ido. Um dos caras me disse que ele precisava estudar para uma prova importante. Começamos a jogar, mas a chuva ficou mais forte e cancelamos a partida. Vesti de volta a roupa da escola e, seguindo as orientações que tinha conseguido na internet, me encaminhei para o endereço de Antoine LeMaire. A essa altura, já estava caindo um pé-d’água. Não dei importância. Gosto de chuva. Nasci em um vilarejo na província de Chiang Mai, no norte da Tailândia. Meus pais estavam lá ajudando os lisu, uma das tribos das montanhas. O xamã – ou seja, o feiticeiro, o curandeiro, o homem que serve de intermediário entre o mundo visível e o mundo espiritual – deu ao meu pai uma lista de coisas que eu precisava fazer durante a vida. Uma delas é “dançar nu na chuva”. Não sei por que, mas sempre gostei desse item. Já fiz isso, embora não recentemente, mas, desde que comecei a entender a lista, sempre senti uma estranha atração pela chuva. Quando cheguei ao endereço, fiquei surpreso ao ver que não se tratava de uma residência perto do Go-Go Lounge Plano B: era o próprio. Procurei por um apartamento em cima dele, mas a única entrada que havia era a da boate. Um negro imenso estava diante da porta. Notei também um cordão de veludo puído e um toldo cor-de-rosa que um dia havia sido aveludado. No toldo via-se a silhueta de uma mulher cheia de curvas. A porta era de vidro fumê com uma inscrição desbotada. Uma placa dizia: 50 LINDAS GO-GO GIRLS AO VIVO – E DUAS FEIAS DE DAR DÓ. Muito engraçado. O homem grandão – um leão de chácara – fechou a cara para mim e apontou para outra placa desgastada: PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 21 ANOS. Quase perguntei se ele conhecia Antoine LeMaire, mas não me pareceu uma boa ideia. Saquei minha carteira e mostrei minha identidade falsa de Robert Johnson, na qual eu tinha 21 anos. O homem olhou para ela e depois para mim, sabendo que provavelmente era falsa, mas pouco se importando. Eram cinco da tarde, mas o movimento já estava grande. Homens iam e vinham aos montes. Havia de tudo: jeans, camisa de flanela, tênis, botas, terno e gravata com sapatos engraxados. Alguns cumprimentavam o leão de chácara ao entrar ou sair, batendo seus punhos cerrados contra o dele. – O couvert é de 30 dólares – falou o leão de chácara para mim. Uau. – Trinta dólares só para entrar? O homenzarrão assentiu. – Bufê incluído. Esta noite temos comida texana e mexicana. Fiz uma careta só de pensar na mistura. Ele abriu passagem. Empurrei a porta e fui recebido pela escuridão. Minha visão levou alguns segundos para se adaptar. Uma mulher/garota de biquíni que parecia ter a minha idade estava atrás de uma registradora. Eu lhe dei 30 dólares. Ela me entregou um prato, mal olhando para mim. – Para o bufê – explicou. – Por ali – disse, apontando para a cortina à direita. Olhei para o prato. Era branco e trazia estampada a mesma silhueta voluptuosa que havia no toldo, além do slogan bastante óbvio: “Plano B – a sua opção quando o plano A não funciona.” Minha boca ficou seca. Meus passos desaceleraram. Mas preciso confessar uma coisa: eu estava nervoso, só que também estava, bem... curioso. Nunca tinha estado num lugar daqueles. Sei que deveria estar acima disso, agir com maturidade e tudo mais, mas parte de mim se sentiu bastante sem-vergonha... e gostou de se sentir assim. A música era alta, em um ritmo acelerado. A primeira coisa por que passei foi um caixa automático que permitia sacar notas de 5, 10 e 20. Logo vi que eram para dar de gorjeta às dançarinas. Os homens estavam no balcão, a maioria bebendo cerveja, enquanto mulheres dançavam sobre um palco usando sapatos tão altos que poderiam passar por pernas de pau. Tentei não olhar muito. Algumas dançarinas eram mesmo bonitas. Outras, não. Fiquei observ ando enquanto elas tentavam arrancar gorjetas dos homens. Uma placa dizia: SE QUISER FICAR, NÃO PODE TOCAR. Apesar disso, os homens não hesitavam muito em enfiar as notas nos fios dentais das dançarinas. O bufê estava atrás de mim. Corri os olhos pelas opções. Havia Doritos e a carne moída boiava em tanta gordura que parecia estar embalada em gelatina. O lugar inteiro, mesmo no escuro, parecia sujo. Não sou do tipo que tem pavor de germes, mas, mesmo que o aviso não estivesse ali, eu não pretendia “tocar” em nada. E agora? Encontrei um reservado vazio em um canto escuro. Segundos depois de eu me sentar, duas mulheres se aproximaram. A que tinha um decote generoso e cabelo pintado de vermelho “caminhão de bombeiros” deslizou para o meu lado. Era difícil dizer sua idade. Poderia ser uma garota de 20 e poucos anos acabada, uma trintona que ainda dava para o gasto, ou uma quarentona com tudo em cima. Apostava na opção mais jovem. A outra mulher era a garçonete. A ruiva “caminhão de bombeiros” sorriu para mim. Tentou ao máximo tornar o sorriso sincero, mas não conseguiu esconder o fato de que era falso, como se alguém o tivesse pintado em seu rosto. Nada dessa encenação chegava aos seus olhos desconfiados. Era um sorriso radiante, largo, mas ainda assim um dos mais tristes que eu tinha visto na vida. – Meu nome é Candy – disse ela. – O meu é M... hã, Bob – falei. – Eu me chamo Bob. – Tem certeza? – Tenho. Bob. – Você é uma gracinha. – Obrigado. Mesmo quando estou nervoso, mesmo em um lugar como aquele, ainda mando muito bem com as garotas. Candy se inclinou um pouco para a frente, assegurando-se de que o decote ficasse bem à vista. – Não quer me pagar um drinque? Fiquei meio confuso, então disse: – Hã? Quero dizer, acho que sim. – É sua primeira vez aqui? – É – respondi. – Acabei de fazer 21. – Que fofo. Olha, geralmente os clientes pedem um drinque para eles e outro para mim. Ou podemos simplesmente dividir uma garrafa de champanhe. – E quanto custa uma garrafa? O sorriso da garota fraquejou quando perguntei isso. – Trezentos dólares mais a gorjeta – falou a garçonete. Foi bom eu estar em um reservado: se estivesse em uma cadeira, poderia ter caído no chão. – Hã, e se pedirmos duas Cocas diet? – perguntei. – Quanto daria? O sorriso sumiu de vez. Estava na cara que eu já não era uma gracinha. – Vinte dólares mais a gorjeta. Isso me deixaria praticamente liso, mas concordei. A garçonete me deixou sozinho com Candy, que a essa altura já estava me analisando. – O que você está fazendo aqui? – perguntou ela. – Como assim? – Se tivesse mesmo acabado de fazer 21 anos, teria vindo com amigos. Você não parece querer estar aqui. Então, qual é a sua? Era uma vez o meu disfarce... Mas talvez fosse melhor assim. – Estou procurando uma pessoa – falei. – E quem não está? – respondeu ela. – O quê? Ela balançou a cabeça. – Quem você está procurando, querido? – Um homem chamado Antoine LeMaire. Ela ficou lívida. – Você o conhece? – perguntei. Uma expressão de puro terror surgiu em seu rosto. – Preciso ir. – Espere – falei, pegando seu braço. Candy o puxou de volta rápido e com força, e eu me lembrei da placa de “proibido tocar”. Ela saiu correndo. Fiquei sentado, sem saber bem o que fazer. Infelizmente, não tive a oportunidade de decidir. O leão de chácara já vinha em minha direção. Saquei meu celular, preparando-me para ligar para alguém, qualquer pessoa, para ter uma testemunha, mas não havia sinal. Maravilha. O leão de chácara se agigantou diante de mim como um eclipse lunar. – Deixe-me ver sua identidade novamente. Enfiei a mão no bolso e a entreguei para ele. – Você não parece ter 21 anos – disse ele. – É porque está escuro aqui dentro. Lá fora, onde tem bastante luz, você me deixou entrar, então devo ter, sim. Seu corpo inteiro pareceu se contorcer de ira. – O que veio fazer aqui? – Me divertir? – arrisquei. – Venha comigo – falou ele. Não fazia muito sentido discutir. Dois outros brutamontes estavam parados lado a lado alguns metros atrás dele e, mesmo em meu melhor dia, eu não poderia dar conta dos três. Provavelmente, nem sequer de um. Então levantei com as pernas bambas e me encaminhei para a saída. Minha visita tinha sido um fracasso... ou será que não? Era óbvio que Antoine LeMaire estava por ali. Era óbvio que o nome dele causava reações. Então agora eu poderia voltar para casa, reorganizar as coisas... A mão gigantesca do leão de chácara pousou sobre meu ombro quando cheguei à saída. – Não tão depressa – falou ele. – Por aqui. O-ou. Sem tirar a mão do meu ombro, ele me conduziu por um longo corredor. Os outros dois nos seguiram. Não gostei daquilo. Pôsteres de “dançarinas” enfeitavam as paredes. Passamos pelos banheiros, por mais duas portas e então dobramos à esquerda. Havia outra porta no final do corredor. Paramos diante dela. Não estava gostando nada daquilo. – Quero ir embora – falei. O leão de chácara não respondeu. Pegou uma chave, abriu a porta, me empurrou para dentro e tornou a trancá-la atrás de nós. Estávamos em uma espécie de escritório. Havia uma mesa e mais fotos de garotas nas paredes. – Quero ir embora – repeti. – Talvez mais tarde – disse o brutamontes. Talvez? Uma porta se abriu atrás da mesa e um homem baixo e robusto entrou. Sua camisa social era brilhosa e estava desabotoada até o umbigo, revelando um monte de correntes e, hã... penduricalhos de ouro. Seus braços eram musculosos, bem definidos. Sabe quando alguém lhe dá arrepios só de entrar numa sala? Aquele cara tinha isso. Até o leão de chácara, que devia ser uns 30 centímetros mais alto e uns 50 quilos mais pesado do que o baixinho, recuou meio passo. O silêncio caiu sobre nós. O homem baixo e robusto tinha o rosto estreito como o de um furão e olhos que só posso descrever como psicóticos. Sei que é errado julgar as pessoas pela aparência, mas até um cego conseguiria notar que aquele cara era péssima companhia. – Muito prazer – disse ele. – Sou Buddy Ray. E você? Ele ceceava um pouco, pronunciando os sons de S e Z como uma cobra. Eu engoli em seco. – Robert Johnson. O sorriso de Buddy Ray faria criancinhas correrem para suas mães. – Olá, Robert. Buddy Ray (eu não sabia se aquilo era um nome composto ou nome e sobrenome) me analisou como se eu fosse um tira-gosto. Dava pra ver que havia algo estranho naquele cara. Ele não parava de lamber os beiços. Arrisquei dar uma olhada para o leão de chácara gigante atrás de mim. Até ele parecia nervoso na presença de Buddy Ray. Quando Buddy Ray se aproximou, um cheiro forte de colônia barata, que não conseguia mascarar o fedor de seu corpo, emanou dele, tomando a dianteira como um dobermann que ele estivesse levando para passear. Buddy Ray parou bem na minha frente, a uns 15 centímetros de distância. Prendi a respiração e me mantive firme. Eu também era uns 30 centímetros mais alto do que ele. O leão de chácara recuou outro passo. Buddy Ray olhou para cima para me encarar e abriu outro sorriso. Então, sem aviso, me deu um soco forte e certeiro no estômago. Eu me dobrei para a frente, expelindo um jato de ar pela boca. Caí de joelhos, tentando recuperar o fôlego, mas não adiantou. Sentia como se mãos gigantes estivessem segurando minha cabeça debaixo d’água. Eu não conseguia respirar. Meu corpo todo começou a implorar por oxigênio, por um pouco de ar que fosse, mas nada chegava. Desabei de vez no chão, curvado na posição fetal. Buddy Ray parou em cima de mim. Seus olhos psicóticos tinham se acendido como se fossem parte de um video game. Quando ele falou, sua voz saiu tranquila. – Diga-me o que sabe a respeito de Antoine LeMaire. Engoli em seco, mas ainda assim não consegui respirar. Meus pulmões doíam. Buddy Ray me chutou nas costelas com o bico de sua bota de caubói. Rolei para longe, mal registrando a dor do pontapé, porque ainda não conseguia puxar o ar. Só podia pensar numa coisa: respirar. Cada célula do meu corpo clamava por oxigênio. Eu precisava de tempo para recuperar a respiração. Buddy Ray se virou para o leão de chácara gigante. – Levante ele, Derrick. – É só um garoto, Buddy Ray. – Levante ele. Ar. Finalmente consegui respirar algumas vezes. As mãos grandes de Derrick agarraram minha camisa ao redor dos ombros. Ele me ergueu como se eu fosse um saco de roupa suja quase vazio. – Segure os braços dele nas costas – ordenou Buddy Ray. Notei que Derrick não estava gostando daquilo, mas ele obedeceu mesmo assim. Passou seus braços robustos ao redor dos meus e os puxou para trás, de modo que minha barriga e meu peito ficaram totalmente expostos. Então me segurou mais forte, prendendo-me no lugar. Eu sentia os tendões se esticarem ao longo dos meus ombros. Buddy Ray ainda estava lambendo os beiços, gostando daquilo muito mais do que deveria. – Por favor – falei, assim que consegui reunir fôlego suficiente. – Não conheço Antoine LeMaire. Também estou procurando por ele. Buddy Ray analisou meu rosto. – Você se chama mesmo Robert Johnson? Eu não sabia como responder a essa pergunta. Ele enfiou a mão no meu bolso e sacou meu celular. – Aposto que isto aqui vai nos dizer seu verdadeiro nome e endereço – zombou ele, com outro sorriso. – Então Derrick e eu vamos poder visitar você sempre que tivermos vontade. Eu me debati, mas isso só serviu para irritar Derrick. Buddy Ray ligou meu celular. Sua expressão congelou. Ele olhou de volta para mim com o rosto contorcido de raiva. Em seguida, virou o visor na minha direção. Era a foto de Ashley. Buddy Ray começou a tremer. – Onde ela está? – Não sei. – Você está mentindo – disse ele, mantendo a voz baixa. – Onde. Ela. Está? – É por isso que vim aqui. Estou procurando por ela. – Então você está aqui a mando de Antoine? – Eu vim por conta própria – falei. Buddy Ray respirou fundo algumas vezes e eu não gostei do que vi em seu rosto. Ele olhou para Derrick. – Temos que levá-lo para a masmorra – anunciou. Masmorra? Até Derrick pareceu um pouco chocado ao ouvir isso. – Não sei não, chefe. Buddy Ray se voltou para mim: – O que vai acontecer é o seguinte – falou, ainda ceceando baixinho. – Derrick vai continuar segurando você e eu vou lhe dar outro soco no estômago. Mais forte dessa vez. Então, por mais que queira se dobrar para a frente e cair no chão, Derrick vai mantê-lo de pé. E se mesmo assim você não falar, vamos levá-lo para a masmorra. O medo em meu rosto fez com que seu sorriso se alargasse. – Espere – falei. – Eu não sei de nada. – Talvez sim, talvez não. Mas é melhor eu ter certeza, certo? Comecei a me debater, mas Derrick me segurou firme. Buddy Ray não teve pressa, estava saboreando o momento. Lambeu um pouco mais os beiços e então sacou um par de socos-ingleses. Tremi. – Buddy Ray... – falou Derrick. – Apenas segure o moleque. Buddy Ray colocou os socos-ingleses e cerrou um dos punhos devagar. Ele o exibiu para mim, como se fosse algo que eu preferisse analisar antes que ele usasse. Eu não sabia o que fazer. Tentei contrair os músculos do abdome, mas será que adiantaria alguma coisa? Então, com seu sorriso maníaco mais largo do que nunca, Buddy jogou o punho para trás. Estava prestes a desferir o golpe quando a mesma porta pela qual ele havia entrado minutos antes se abriu. Uma dançarina de biquíni apareceu. – Buddy Ray – chamou ela. – Saia daqui! Era agora ou nunca. Como falei antes, já fiz treinamento de combate. Na maioria das escolas de artes marciais, você aprende a dar socos, chutes e golpes com a lateral das mãos, ir para o corpo a corpo com o oponente, imobilizá-lo ou escapar da imobilização. Mas, em geral, o mais importante numa luta são as táticas iniciais, elementos como distração, camuflagem, surpresa e timing. Ao abrir a porta, por um breve instante a garota havia desviado de mim o foco da atenção. Isso significava que eu precisava atacar imediatamente. Derrick ainda me segurava com força, mas nós éramos praticamente do mesmo tamanho. Inclinei o pescoço para a frente, enterrando meu queixo no peito, e então joguei a cabeça para trás com toda a pressão. Ela se chocou como uma bola de boliche contra o nariz do leão de chácara. Ouvi o som de algo sendo esmagado, como se alguém tivesse pisado em um ninho seco. O homem me soltou com um grito. Não me dei o trabalho de desferir um segundo golpe. Não havia necessidade. O mais importante era que eu não ficasse parado. Não podia hesitar. A dançarina continuava diante da porta aberta. Movendo-me com toda a minha agilidade – antes que Buddy Ray pudesse reagir ou Derrick se recuperasse –, saltei por cima da mesa, arranquei meu telefone de Buddy Ray, que estava perplexo, e corri em direção à porta. Não podia hesitar. A dançarina estava no meu caminho. Perder um segundo poderia significar a diferença entre fugir e ser pego. Então eu teria que derrubá-la se fosse preciso. Não queria machucá-la, mas simplesmente não havia espaço suficiente para passar. Felizmente para nós dois, ela me viu a tempo e desviou para a direita. Atravessei a porta e fui parar no que se poderia chamar de camarim. Havia trajes, boás e um monte de dançarinas amontoadas em frente a um espelho. Imaginei que fossem gritar ou fazer algo do tipo quando entrei, mas elas mal olharam para mim. – Parem esse moleque! Era Buddy Ray. Segui em frente, atravessando o camarim, passando com um encontrão por outra porta e então saí...
... no palco? Os clientes pareceram surpresos quando me viram lá em cima. E eu também. Um homem improvisou um megafone com as mãos e vaiou. Os outros o imitaram. Eu estava prestes a saltar para o chão quando percebi os outros dois leões de chácara correndo em minha direção. Virei para trás, mas de lá vinha Buddy Ray, seguido por Derrick, que segurava o nariz, com sangue escorrendo entre seus dedos. Encurralado. Distração, camuflagem, surpresa, timing. Continuei no palco e o atravessei correndo, chutando o máximo de garrafas de cerveja possível. Meu único plano era criar o caos naquele lugar para distrair a atenção de todos. As dançarinas gritavam. Os clientes começaram a pular para trás, trombando uns contra os outros e se empurrando. Não seria preciso mais que isso. Afinal, era um estabelecimento cheio de homens bêbados e frustrados que estavam gastando mais do que deviam no que, no fim das contas, é um plano B bastante patético. A testosterona fluía ali como os drinques aguados. As brigas começaram. Saltei do palco, passando por sobre um grupo de homens. Aterrissei em cima de um dos clientes, rolei para o chão e segui em frente. O mar de gente atrás de mim serviu de muralha, dando trabalho a Buddy Ray e seus leões de chácara. Eu me virei e procurei uma saída. Nada. Buddy Ray e os leões de chácara estavam se aproximando. Encurralado outra vez. – Psiu, por aqui. A primeira coisa que vi foi o cabelo vermelho “caminhão de bombeiros”. Era Candy. Ela havia se escondido debaixo de uma mesa. Fiquei de quatro e comecei a engatinhar em sua direção. Alguém agarrou meu tornozelo. Nem olhei para trás. Dando um coice, consegui me libertar. Engatinhei mais rápido, seguindo Candy pelo chão. Ela abriu uma portinhola, tipo uma escotilha de emergência, e eu a atravessei. Continuei a seguir Candy, que já estava de pé do outro lado. Ela me ajudou a levantar. – Por aqui. Estávamos em um quarto azul com um monte de almofadas espalhadas pelo chão e um pequeno palco redondo com uma haste no meio. Escutei um barulho atrás de nós e me encaminhei para a porta mais próxima. Candy estendeu a mão para me impedir. – Não faça isso – falou ela, tremendo. – É a entrada para a masmorra. Você não iria querer descer até lá. Não precisava avisar duas vezes. Eu não tinha o menor interesse em conhecer a masmorra, muito obrigado. Fiz sinal para que ela mostrasse o caminho. Corremos para o outro lado do quarto e empurramos uma pesada porta corta-fogo metálica. Eu estava do lado de fora! Candy agarrou meu braço. – Você não trabalha para Antoine, trabalha? – Não – respondi, erguendo meu celular. – Estou tentando encontrar esta garota. Candy arquejou de espanto. Não restava dúvida: ela havia reconhecido Ashley. – Você a conhece – falei. – Ashley – disse Candy. – Ela era tão especial, tão inteligente. Era minha única amiga aqui. Era? – Onde ela está? – perguntei. – Ela se foi – falou Candy com a voz mais triste do mundo. – Depois que você entra na van de Antoine, desaparece para sempre. Já era possível ouvir a agitação do outro lado da porta. Buddy Ray e os leões de chácara estavam chegando. – Corra! – exclamou Candy. – Espere. O que você quis dizer com “ela se foi”? – Não dá tempo para explicar. – Eu preciso saber. Candy colocou suas mãos no meu peito, agarrando minha camisa. – Antoine LeMaire a pegou meses atrás. A morte branca. Não há nada que você possa fazer por Ashley. Ela se foi, como todas as outras. Tudo o que pode fazer é salvar a própria pele. Eu balancei a cabeça. – Ela estuda comigo. Estava bem na semana passada. Candy pareceu intrigada, mas então ouvimos mais barulho se aproximando. – Corra! – gritou ela, me empurrando e disparando pelo beco. – Corra e nunca mais apareça por aqui! Saí correndo na direção oposta, para a rua, a toda a velocidade. Não parei até chegar ao ponto de ônibus e entrar no 164 de volta para casa.
... no palco? Os clientes pareceram surpresos quando me viram lá em cima. E eu também. Um homem improvisou um megafone com as mãos e vaiou. Os outros o imitaram. Eu estava prestes a saltar para o chão quando percebi os outros dois leões de chácara correndo em minha direção. Virei para trás, mas de lá vinha Buddy Ray, seguido por Derrick, que segurava o nariz, com sangue escorrendo entre seus dedos. Encurralado. Distração, camuflagem, surpresa, timing. Continuei no palco e o atravessei correndo, chutando o máximo de garrafas de cerveja possível. Meu único plano era criar o caos naquele lugar para distrair a atenção de todos. As dançarinas gritavam. Os clientes começaram a pular para trás, trombando uns contra os outros e se empurrando. Não seria preciso mais que isso. Afinal, era um estabelecimento cheio de homens bêbados e frustrados que estavam gastando mais do que deviam no que, no fim das contas, é um plano B bastante patético. A testosterona fluía ali como os drinques aguados. As brigas começaram. Saltei do palco, passando por sobre um grupo de homens. Aterrissei em cima de um dos clientes, rolei para o chão e segui em frente. O mar de gente atrás de mim serviu de muralha, dando trabalho a Buddy Ray e seus leões de chácara. Eu me virei e procurei uma saída. Nada. Buddy Ray e os leões de chácara estavam se aproximando. Encurralado outra vez. – Psiu, por aqui. A primeira coisa que vi foi o cabelo vermelho “caminhão de bombeiros”. Era Candy. Ela havia se escondido debaixo de uma mesa. Fiquei de quatro e comecei a engatinhar em sua direção. Alguém agarrou meu tornozelo. Nem olhei para trás. Dando um coice, consegui me libertar. Engatinhei mais rápido, seguindo Candy pelo chão. Ela abriu uma portinhola, tipo uma escotilha de emergência, e eu a atravessei. Continuei a seguir Candy, que já estava de pé do outro lado. Ela me ajudou a levantar. – Por aqui. Estávamos em um quarto azul com um monte de almofadas espalhadas pelo chão e um pequeno palco redondo com uma haste no meio. Escutei um barulho atrás de nós e me encaminhei para a porta mais próxima. Candy estendeu a mão para me impedir. – Não faça isso – falou ela, tremendo. – É a entrada para a masmorra. Você não iria querer descer até lá. Não precisava avisar duas vezes. Eu não tinha o menor interesse em conhecer a masmorra, muito obrigado. Fiz sinal para que ela mostrasse o caminho. Corremos para o outro lado do quarto e empurramos uma pesada porta corta-fogo metálica. Eu estava do lado de fora! Candy agarrou meu braço. – Você não trabalha para Antoine, trabalha? – Não – respondi, erguendo meu celular. – Estou tentando encontrar esta garota. Candy arquejou de espanto. Não restava dúvida: ela havia reconhecido Ashley. – Você a conhece – falei. – Ashley – disse Candy. – Ela era tão especial, tão inteligente. Era minha única amiga aqui. Era? – Onde ela está? – perguntei. – Ela se foi – falou Candy com a voz mais triste do mundo. – Depois que você entra na van de Antoine, desaparece para sempre. Já era possível ouvir a agitação do outro lado da porta. Buddy Ray e os leões de chácara estavam chegando. – Corra! – exclamou Candy. – Espere. O que você quis dizer com “ela se foi”? – Não dá tempo para explicar. – Eu preciso saber. Candy colocou suas mãos no meu peito, agarrando minha camisa. – Antoine LeMaire a pegou meses atrás. A morte branca. Não há nada que você possa fazer por Ashley. Ela se foi, como todas as outras. Tudo o que pode fazer é salvar a própria pele. Eu balancei a cabeça. – Ela estuda comigo. Estava bem na semana passada. Candy pareceu intrigada, mas então ouvimos mais barulho se aproximando. – Corra! – gritou ela, me empurrando e disparando pelo beco. – Corra e nunca mais apareça por aqui! Saí correndo na direção oposta, para a rua, a toda a velocidade. Não parei até chegar ao ponto de ônibus e entrar no 164 de volta para casa.
Capítulo 16
MEU TIO MYRON NÃO estava em casa. Talvez fosse até melhor. Olhei para as minhas mãos. Ainda tremiam. Não sabia o que fazer. Não podia contar a ele – o que eu iria dizer? “Sabe, entrei em um go-go bar usando uma identidade falsa e então, bem, o leão de chácara e um cara chamado Buddy Ray me atacaram....” Muito convincente. Quem acreditaria numa história dessas? Eu não tinha uma só marca no corpo. Buddy Ray e o leão de chácara gigante provavelmente jurariam que apenas me enxotaram do bar quando descobriram que minha identidade era falsa. Não, essa não era a saída. As palavras de Candy não paravam de ecoar na minha cabeça. “Não há nada que você possa fazer por Ashley. Ela se foi, como todas as outras.” Eu não tinha ideia do que essas palavras significavam ou do que Candy tinha querido dizer quando falou que Antoine LeMaire “pegou Ashley meses atrás. A morte branca”. Ashley tinha frequentado a escola. Tinha sorrido, gargalhado e sido encantadoramente tímida e... e Candy não tinha dito que Ashley era sua única amiga? O que estava acontecendo? Mas algumas coisas estavam claras. Ashley tinha segredos. Candy realmente a conhecia. E o que era pior – muito pior – Buddy Ray também. E agora? Eu não sabia o que fazer. O que tinha descoberto de fato? Pouca coisa. Ao que parecia, a resposta ainda estava em Antoine LeMaire. Eu precisava encontrá-lo. Mas isso levantava algumas questões. A mais óbvia era: como? Voltar ao Plano B não me parecia uma boa ideia. Talvez pudesse ficar de tocaia, vigiando o local de alguma forma, mas será que adiantaria? E isso me levava à segunda questão: quando encontrasse Antoine (a morte branca?), o que faria? Coloquei água no fogo para fazer um macarrão, ainda tentando compreender tudo aquilo. Tinha alguma coisa estranha naquela história, algo que eu não conseguia ver por enquanto, mas que estava lá. Sentei-me à mesa da cozinha. Minha barriga doía por causa do soco. Na certa continuaria dolorida no dia seguinte. A sensação de que havia algo mais ali começou a crescer. Peguei o laptop. Queria dar outra olhada no tal Antoine LeMaire mexendo no armário de Ashley. Revi a gravação. Antoine abria o armário, olhava para dentro dele e se irritava ao encontrá-lo vazio. Tornei a assistir ao vídeo. Foi então que percebi o que me incomodava. O armário já estar vazio. Antoine esperava encontrar algo lá dentro, mas, fosse o que fosse, não estava mais lá. Isso provavelmente significava que a própria Ashley o esvaziara. Mas quando? E, o que era mais importante, será que eu conseguiria ver esse momento – exatamente a última vez em que ela havia estado na escola? Se ela houvesse mesmo esvaziado o armário, é bem provável que estivesse planejando fugir – e, nesse caso, não teria sido vítima de nenhum crime, do que Candy chamara de morte branca ou de qualquer outra coisa terrível que pudesse acontecer a uma garota envolvida com o Go-Go Lounge Plano B. Fazia sentido pensar que Ashley houvesse esvaziado seu armário e fugido. Ou será que não? Telefonei para Colherada. Ele atendeu no primeiro toque. Esperava que fosse começar a conversa com alguma de suas maluquices sem sentido, mas ele me surpreendeu: – Conseguiu encontrar Antoine? – Hã? – Você deve achar que Ema e eu somos idiotas. Jogo de basquete? Faça-me o favor. Tive que sorrir ao ouvir isso. – Não, não consegui. – Então, o que aconteceu? – Amanhã eu conto para vocês. Mas antes preciso pedir um favor. Eu lhe contei o que queria, minha teoria sobre por que a última visita de Ashley ao seu armário era importante. – Hum – disse Colherada –, não sabemos quando Ashley mexeu pela última vez no armário. – Não. – E pode ter sido a qualquer hora durante as aulas. – Sim, pode. Ele refletiu sobre o assunto. – Imagino que possamos voltar as gravações e ver se descobrimos alguma coisa. Isto é, se eu conseguir pôr as mãos nos arquivos da segurança outra vez. – Você poderia tentar? – Sou viciado em perigo. Colherada desligou. Três minutos depois, Ema me telefonou. – Você já jantou? – perguntou ela. – Estou fervendo água para um macarrão. – Conhece o Baumgart’s? Era o restaurante favorito do meu tio. – Conheço. – Me encontre lá. Havia um tom estranho na voz dela, algo que eu nunca tinha ouvido antes. – Eu não encontrei Antoine. – Colherada me disse. Mas não é sobre isso que eu quero conversar. – O que houve? – Pesquisei um pouco mais sobre aquela lápide. – E...? – E tem algo muito errado nesta história toda, Mickey. Durante meio século o Baumgart’s tinha sido uma mistura de delicatéssen judaica e lanchonete à moda antiga – o tipo de lugar em que um pai poderia pedir um sanduíche de pastrami em pão de centeio enquanto as crianças se sentavam ao balcão de fórmica e giravam nos bancos à espera de seus sorvetes e refrigerantes. Em algum momento da década de 1980, um chef chinês comprou o estabelecimento. Em vez de recomeçar do zero, ele simplesmente aprimorou o que já havia ali. Manteve todo o cardápio judaico e o balcão de lanchonete, acrescentando pratos da nouvelle culinária chinesa ao menu. O resultado foi uma combinação intrigante. Desde então, mais três filiais tinham sido inauguradas em várias regiões de Nova Jersey. Ema estava sentada em um reservado no canto, tomando um milk-shake de chocolate. Fui me sentar com ela e pedi um também. A garçonete perguntou se queríamos alguma coisa para comer. Nós dois assentimos. Ema pediu macarrão chinês com molho de amendoim, o prato favorito de Myron, e crepe de pato desfiado. Eu pedi um frango kung pao. – E então – disse ela –, o que aconteceu quando você foi atrás de Antoine LeMaire? – Por que você não começa? Ela brincou com o canudo do milk-shake. – Ainda preciso de um tempo para processar o que descobri. Ema tomou um gole de milk-shake e se recostou no banco. – Aliás, me faça um favor: se quiser bancar o pai superprotetor comigo, avise antes. – OK – falei. – Não minta pra mim. – Você tem razão. Desculpe. – Ótimo – disse Ema. – Então, o que aconteceu com Antoine? Eu lhe contei sobre minha visita ao Go-Go Lounge Plano B. A garçonete veio com nossa comida, mas nem percebemos. Quando terminei a história, Ema falou: – Não vou nem me dar o trabalho de dizer “caramba!”. Isso é mais que “caramba!”. É tipo “megacaramba!”, “caramba!” elevado à décima potência. Quando senti o cheiro do frango kung pao que subia do prato, percebi de repente que estava faminto. Peguei meu garfo e comecei a devorar a comida. – Então – disse Ema –, você acha... o quê? Que Ashley, sua namorada toda certinha, dançava em um go-go bar? Dei de ombros enquanto mastigava. – O que você descobriu sobre aquela lápide? O rosto dela empalideceu um pouco. – É sobre dona Morcega. Eu esperei. Ela hesitou. – Ema? – Que foi? – Quando o chefe Taylor estava me levando para a viatura, vi dona Morcega na janela. Ela estava tentando me dizer alguma coisa. Ema estreitou os olhos. – Não posso jurar que tenha sido isto – prossegui –, mas acho que ela estava me dizendo para salvar Ashley. Sei que não faz sentido. Mas, seja lá o que você tenha descoberto, eu preciso saber. Ela assentiu. – Nós já sabemos sobre a citação do tal de Jefferies, certo? – Certo. – Então fui pesquisar a outra parte. Aquela frase sobre uma infância perdida em prol das crianças. – E...? – Não achei nada sobre a frase em si, mas encontrei um site sobre... Ela se deteve, balançando a cabeça como se não acreditasse no que estava prestes a dizer. – Sobre o Holocausto – falou por fim. Eu parei o garfo no meio do caminho até a boca. – Você está falando dos nazistas e da Segunda Guerra Mundial? – Isso. – Não entendo. – O que encontrei foi uma referência a um grupo de crianças judias que se juntou à resistência clandestina na Polônia. Algumas das crianças que escaparam dos campos de extermínio foram viver na floresta, entende? Elas combateram os nazistas em segredo. Crianças. Também contrabandeavam mercadorias para o gueto de Lodz, por exemplo. Às vezes, quando tinham chance, até resgatavam outras crianças a caminho de Auschwitz, o maior e mais famoso campo de concentração nazista. Eu fiquei sentado ali, esperando. Ema pegou seu milk-shake e tomou um gole longo e demorado. – Ainda não estou entendendo – falei. – O que isso tem a ver com a lápide no quintal de dona Morcega? – Você já ouviu falar de Anne Frank, não ouviu? Claro que eu tinha ouvido falar dela. Não só havia lido O diário de Anne Frank, como, aos 12 anos de idade, meus pais me levaram para conhecer a casa em que ela se escondeu dos nazistas em Amsterdã. As duas coisas de que eu mais me lembrava eram as seguintes: em primeiro lugar, a estante móvel que ocultava as escadas para o sótão em que a família de Frank ficou escondida. E, em segundo, a frase de Anne Frank gravada na saída do seu triste memorial: “Apesar de tudo, acredito que no fundo as pessoas tenham um bom coração.” – Sim, claro – falei. – Teve outra garota. Uma polonesa de 13 anos chamada Lizzy Sobek, que escapou de Auschwitz e entrou para a resistência. O nome me era familiar. – Lembro de ter lido algo sobre ela. – Eu também. Falaram um pouco a respeito dela nas aulas de história, no oitavo ano. A família de Lizzy Sobek foi morta em Auschwitz, mas ela conseguiu escapar de alguma forma. Dizem que salvou centenas de vidas. Em um caso documentado, Lizzy comandou um ataque no mês de fevereiro que desacelerou um trem de carga cheio de judeus a caminho de campos de extermínio. Mais de 50 pessoas fugiram para as florestas cobertas de neve, sendo que quase todas tinham menos de 15 anos. E algumas delas afirmaram que... Ema se interrompeu e respirou fundo antes de continuar: – ...que, enquanto escapavam, viram borboletas. Eu engoli em seco. – Borboletas? Ela assentiu. – Em fevereiro. Na Polônia. Borboletas. Centenas delas conduzindo os fugitivos para um refúgio seguro. Eu fiquei sem ação. – Lizzy Sobek passou a ser conhecida como Borboleta. Talvez eu tenha balançado a cabeça, mas não posso garantir. O que sei é que estávamos os dois pensando a mesma coisa. Borboleta... como a que aparecia naquelas camisas da fotografia antiga, no túmulo de meu pai e na lápide no quintal de dona Morcega. Não podia ser coincidência. – Lizzy Sobek – falei, e de repente meu sangue gelou nas veias novamente. – Lizzy poderia ser apelido de Elizabeth. – E era – disse Ema. Elizabeth Sobek: E. S., as iniciais na lápide. Outra coincidência? Eu fiz a pergunta óbvia: – Que fim levou Lizzy Sobek? – Essa é a questão – falou Ema. – Ninguém sabe. A grande maioria dos estudiosos acredita que ela tenha sido capturada enquanto tentava libertar um grupo de crianças que estava morrendo de fome perto de Lodz. Acreditam que Lizzy e outros combatentes da resistência tenham sido fuzilados e enterrados numa vala comum, provavelmente em 1944. Mas nunca encontraram nenhuma prova. – “Uma infância perdida em prol das crianças” – falei. – A frase faz mais sentido agora. Ema concordou balançando a cabeça. – E tem mais. Eu esperei. O Baumgart’s estava movimentado. As pessoas iam e vinham, saboreando suas refeições, rindo, mandando torpedos e tudo o mais que se costuma fazer em restaurantes. Mas, para nós, era como se elas não estivessem ali. A única coisa que existia era o lugar em que Ema e eu estávamos sentados – e o fantasma de uma garota corajosa, morta havia tempo, chamada Lizzy Sobek. – Pesquisei aqueles números até dizer chega, os que estavam na parte de baixo da lápide e na placa daquele carro, A30432, mas não encontrei nada sobre eles – falou Ema. Continuei sentado, sem mexer um músculo. Se ela não tivesse encontrado nada mesmo, seu olhos não estariam cheios de lágrimas. – Então resolvi ler mais a respeito de Lizzy Sobek – prosseguiu Ema, enfiando a mão no bolso e sacando uma folha de papel. – Achei um daqueles sites de perguntas e respostas sobre a vida dela. Ela desdobrou a folha e a deslizou pela mesa. Eu a peguei. Ema desviou o olhar. Voltei minha atenção para o papel: Pergunta 8: Que número Lizzy Sobek recebeu ao ser tatuada no campo de concentração? Essa informação continua desconhecida. A maioria das pessoas acredita, erroneamente, que todos os que eram enviados para um campo de concentração nazista recebiam tatuagens de identificação, mas, na verdade, o complexo de Auschwitz (que incluía Auschwitz 1, Auschwitz-Birkenau e Monowitz) foi o único em que todos os prisioneiros foram tatuados durante o Holocausto. Em 12 de setembro de 1942, Lizzy foi posta, juntamente com o pai, Samuel, a mãe, Esther, e o irmão, Emmanuel, em um comboio para Auschwitz-Birkenau. O comboio chegou ao destino em 13 de setembro de 1942, com 1.121 judeus a bordo. Homens e mulheres foram separados. As mulheres selecionadas, incluindo Lizzy e Esther, receberam marcas que iam de A-30380 a A-30615. Os registros que indicavam seus números exatos não foram preservados, de modo que, até hoje, a tatuagem de identificação que Lizzy Sobek trazia em seu antebraço permanece um mistério. Quando ergui meus olhos de volta para Ema, eles também estavam marejados. – Será que resolvemos este mistério especificamente? – Parece que sim. – Mas ele leva a outro. Ema assentiu. – Como dona Morcega poderia saber o número exato? – falou ela. – E por que tem uma lápide para Lizzy em seu quintal? – A não ser que... Ema se deteve. Nós dois sabíamos o que ela estava pensando, mas acho que não estávamos preparados para dizê-lo em voz alta. Talvez tivéssemos descoberto mais do que o número com que Lizzy Sobek havia sido tatuada. Talvez, depois de tantos anos, houvéssemos solucionado o mistério do que realmente havia acontecido a ela.
Capítulo 17
NA MANHÃ SEGUINTE, liguei para minha mãe no Instituto Coddington de Reabilitação. – Por favor, aguarde na linha – disse a telefonista. Depois de dois toques, alguém atendeu. – Mickey? Não era a minha mãe. Era Christine Shippee, a diretora da clínica. – Quero falar com a minha mãe. – E eu quero tomar uma ducha com o Brad Pitt – falou ela. – Sinto muito, mas avisei que vocês não poderiam ter contato. – A senhora não pode simplesmente nos separar desse jeito. – Bem, na verdade, Mickey, eu posso. Por falar nisso, precisamos conversar. Já ouviu falar de pessoas que criam desculpas para defender quem amam e com isso acabam incentivando um comportamento destrutivo nelas? Outra vez aquela pergunta. – Eu não dei as drogas para a minha mãe. – Não, mas está se comportando como um banana nesta história. Precisa ser mais duro com ela. – A senhora não sabe o que ela passou. – É claro que sei – disse ela como se abafasse um bocejo. – O marido morreu. Seu único filho está crescendo. Ela não tem perspectivas. Está assustada, sozinha e deprimida. Ora, você acha que sua mãe é a única nesta clínica que tem uma história triste para contar? – Sua compaixão é de cair o queixo. Não me surpreende que os pacientes adorem a senhora. – Já fui um deles, Mickey, uma viciada manipuladora. Sei como funciona. Apareça aqui na semana que vem para conversarmos mais um pouco. Enquanto isso, vá estudar. Ela desligou. Passamos a maior parte da manhã na escola assistindo a uma palestra. Mal consigo me lembrar do assunto. Eram dois políticos locais tentando “estabelecer contato” com a gente, o que resultou em algo muito paternalista e chato. Passei o tempo todo olhando pela sala e cruzando olhares com Rachel. Quando chegou a hora do almoço, fui me sentar com Ema no que estava rapidamente se tornando a nossa mesa cativa. Não havia nem sinal de Colherada. Para variar um pouco, Ema e eu tentamos conversar sobre as estreias no cinema, as músicas de que gostávamos ou nossos programas de tevê favoritos, mas sempre acabávamos voltando ao assunto do Holocausto e de uma heroica garota chamada Lizzy Sobek. Em determinado momento, olhei para o outro lado do refeitório e vi Troy e Buck. Como era de esperar, eles lançaram sorrisos maldosos para mim. Troy tinha no rosto uma expressão arrogante de “eu sei de uma coisa que você não sabe”. Então começou a bater os braços como se fossem asas e a fazer “iic-iic” com a boca. – Um morcego – disse Ema por fim. – Ah, dona Morcega. – Nossa, como ele é inteligente. Imaginei que o pai tivesse lhe contado que fui detido perto da casa de dona Morcega e aquele era seu jeito sutil de nos informar isso. Minha reação foi fingir um bocejo. Troy me fuzilou com o olhar quando fiz isso; então usou o dedo para cortar o próprio pescoço, o gesto internacionalmente reconhecido dos idiotas para, adivinhe só: “Você é um homem morto.” Ele não valia a pena. Desviei o olhar. – Sabe onde está Colherada? – perguntei a Ema. Ela estava mastigando, de modo que apontou para trás. Colherada vinha a passos rápidos em direção à nossa mesa – correndo, na verdade –, com um laptop aberto nos braços. A Sra. Owens parou na frente dele e disse: – Ande, não corra. Colherada assentiu e pediu desculpas. Quando chegou, estava ofegante e com os olhos arregalados. – Chocante – falou ele. – O quê? Colherada colocou o laptop na mesa. – Caramba, vocês vão querer muito ver isso. – Do que você está falando? – perguntei. Ele franziu a testa. – Você não me pediu para conferir o vídeo da câmera de segurança do armário de Ashley? – Pedi. – Bem, estou assistindo às gravações desde ontem à noite. Vocês não vão acreditar no que descobri. O sinal tocou. Todos se encaminharam para a saída, menos nós três. Colherada sentou-se diante do laptop. Eu arrastei minha cadeira para ficar bem à sua direita. Ema fez o mesmo do outro lado. – OK – começou ele. – Então lá estava eu, fazendo o que você me pediu, que foi dar uma olhada no vídeo, certo? Comecei com aquele vândalo arrombando o armário, depois fui voltando até a última vez em que o armário de Ashley tinha sido aberto. Ele se deteve, empurrando os óculos para cima. – E...? – perguntei. – Veja com seus próprios olhos. Colherada estava prestes a apertar a tecla do computador quando a Sra. Owens pigarreou dramaticamente. – O sinal tocou – falou ela depressa. – Só um minuto – respondi. A Sra. Owens não gostou da resposta. – Não fazemos as coisas no seu tempo, Sr. Bolitar. O sinal já tocou. Isso significa que os alunos devem sair do refeitório. Você não é especial. Ela só podia estar brincando. Arrisquei a desculpa clássica: – É dever de casa. – Não me interessa se é a cura do câncer – disse a Sra. Owens. Juro que acreditei que ela estava falando sério. Ela fechou o laptop com força, fazendo Colherada arquejar de surpresa. – Vocês tiveram o horário de almoço inteiro para discutir isso. Saiam agora mesmo ou vão todos para a detenção. – A senhora atacou meu laptop – disse Colherada. – Como? – A senhora perpetrou um ataque contra os meus bens, ou sei lá como se deve dizer. – Está questionando minha autoridade, jovenzinho? Colherada abriu a boca para falar mais alguma coisa, mas eu o chutei com força o bastante para que ele a fechasse. Então me levantei, puxando-o comigo. Nós três saímos do refeitório. No corredor, conferimos quais eram nossas próximas aulas. Eu tinha inglês. Colherada iria para a sala de estudos. Ema tinha “educação física, que eu vou matar de qualquer jeito”. Colherada nos levou depressa para uma sala de produtos de limpeza no andar de baixo. Nós três nos juntamos em volta do laptop de novo. Ele pressionou o ENTER e disse: – Vejam só. E lá estava. O armário de Ashley. Colherada tinha colocado a gravação no ponto exato – bem na hora em que ele estava sendo aberto. Ficamos observando em silêncio enquanto ele era esvaziado e todo o seu conteúdo ia para dentro de uma mochila. Meu queixo caiu. – Eu sabia! – exclamou Ema. – Não me diga que não avisei! Não era Ashley quem estava esvaziando o armário. Não era Antoine, Buddy Ray ou Derrick, o leão de chácara. A pessoa que abriu o armário com a combinação e o esvaziou era ninguém menos que Rachel Caldwell. Primeiro fiquei confuso, mas essa sensação deu lugar à raiva quase imediatamente. Eu estava furioso. Mais do que furioso: me sentia não apenas traído, mas o maior otário do mundo. Quando uma pessoa nos magoa ou nos engana, ficamos com raiva dela, mas ficamos mais irritados ainda quando ela nos faz de idiota. E, naquele instante, eu me sentia um verdadeiro imbecil. Rachel tinha piscado seus grandes olhos azuis para mim e eu havia caído em sua rede como um peixinho. Peguem seus dicionários, meninos e meninas! Otário, mané, idiota, imbecil: eu! Tinha engolido cada sorriso de Rachel, cada olhar tímido, cada risadinha. Falso. Tudo falso. Como eu podia ter caído numa armadilha dessas? Ema parecia mais contente do que nunca. – Eu avisei que não podíamos confiar nela. Fiquei calado. Colherada empurrou os óculos para cima. – Independentemente do que você tenha visto neste vídeo, isso não muda o fato principal – disse ele. – E que fato seria esse? – perguntou Ema. – Que Rachel Caldwell é uma gata de primeira linha, de cair o queixo, de parar o trânsito, de arrasar. Ema revirou os olhos. O segundo sinal tocou. Estava na hora de irmos. Nós nos separamos e Colherada e eu fomos para nossas respectivas aulas, enquanto Ema foi... sei lá para onde. Eu teria inglês com o Sr. Lampf. Sentei-me no fundo da sala e abri meu caderno, mas não sei dizer mais nada do que tenha acontecido na aula. Ainda estava possesso. Depois de um tempo, permiti que a pergunta óbvia, a mais importante, atravessasse a barreira da raiva: o que Rachel Caldwell teria a ver com tudo aquilo? Repassei um milhão de hipóteses diferentes em minha cabeça, mas nenhuma fez sentido. A lógica não estava dando resultado, então deixei a raiva voltar – àquela altura, era bom senti-la. Ela me lembrava de que Rachel Caldwell estava na escola naquele exato momento, de que eu poderia confrontá-la e desvendar toda a história. Quando o sinal tocou, disparei em direção à porta. Sabia que Rachel tinha aula de matemática com a Sra. Cannon naquele horário. Sabia disso porque, bem, porque sim. A Sra. Cannon dava aula um pouco mais adiante naquele mesmo corredor. Muitas vezes eu via Rachel por ali entre uma aula e outra. (Sim, eu olhava para ela, pode me processar se quiser.) Cheguei ao corredor e dobrei à direita. Lá estava ela, virando na direção oposta, o cabelo parecendo se mover em perfeita câmera lenta, como numa propaganda de xampu. Fui correndo atrás dela, atravessando a multidão de alunos. Rachel estava prestes a fazer uma curva quando a alcancei. Coloquei a mão em seu ombro, talvez com mais força do que deveria. Ela se virou assustada, mas, quando viu que era eu, abriu um sorriso lindo, de tirar o fôlego. – Oi, Mickey – falou, como se não pudesse estar mais feliz em me ver. Aquela garota deveria ganhar um Oscar. – Onde está Ashley? O sorriso despencou do rosto de Rachel. Ela tentou abri-lo de volta, mas não conseguiu mantê-lo. – Como assim? – Você abriu o armário dela e tirou tudo lá de dentro. Por quê? – Não sei do que você está falando. Caramba, como eu não tinha percebido antes? Ela nem sabia mentir direito. – Eu vi você – falei. – Impossível. – No vídeo da câmera de segurança. Vi você abrir o armário de Ashley e esvaziá-lo. Seus olhos dardejaram para a direita, depois para a esquerda. – Preciso ir para a aula. Rachel começou a se afastar. Agindo mais por impulso do que racionalmente, estendi a mão e a segurei. – Por que você mentiu para mim? – Me larga. – Onde está Ashley? – Mickey, você está me machucando! Então eu soltei. Ela puxou o braço e o esfregou onde eu havia segurado, perto do cotovelo. As pessoas sussurravam ao passarem por nós. – Desculpe – falei. – Preciso ir para a aula. Ela começou a ir embora. – Não vou deixar por isso mesmo, Rachel. Ela parou e me encarou. – Eu posso explicar. – Sou todo ouvidos – disse eu. – Me encontre depois das aulas. Sozinho. Nada de Ema ou Colherada. Vou lhe contar tudo. E então ela saiu andando.
Capítulo 18
O RESTANTE DO DIA NA ESCOLA passou devagar. Eu olhava o tempo todo para o relógio, mas parecia que alguém tinha derramado melado no ponteiro de minutos. Tentei imaginar como Rachel poderia estar envolvida, mas não cheguei a conclusão nenhuma. Então me lembrei de que era inútil ficar especulando, que em poucas horas eu saberia a verdade. Faltavam apenas cinco minutos para o final das aulas – cinco minutos para reencontrar Rachel e ouvir sua explicação – quando o interfone tocou na sala em que eu estava tendo aula de física. O Sr. Berlin o atendeu, escutou por alguns instantes, e então disse: – Mickey Bolitar, por favor, apresente-se na sala do Sr. Grady. A turma fez um “uuu” em uníssono. Eu ainda não conhecia o Sr. Grady, mas sabia quem ele era. Na minha cabeça, ele era, antes de tudo, o treinador do time de basquete da escola, ou seja, um homem com quem eu esperava ter bastante contato muito em breve. Mas o motivo que levou a turma a fazer “uuu” tinha a ver com seu verdadeiro cargo: vice-diretor – o responsável por manter os alunos na linha. Juntei minhas coisas e me encaminhei para sua sala. Não estava nervoso. Acreditava piamente, por mais convencido que isso possa parecer, que o Sr. Grady pretendia me dar as boas-vindas à escola. Sim, eu tinha me esforçado para que ninguém soubesse que eu jogava, mas com a minha altura, minha fama de sobrinho de Myron e a maneira como meus colegas de quadra em Newark fofocavam, ficaria surpreso se o Sr. Grady não tivesse ao menos ouvido falar a meu respeito. Esperava ser esse o motivo pelo qual eu fora chamado à sua sala. Ou será que estava enganado? Será que eu tinha feito alguma besteira? Achava que não. Então me lembrei de ter agarrado o braço de Rachel no corredor. E se alguém tivesse visto? Não, não podia ser isso. O que a pessoa poderia fazer? Ir à sala de Grady e contar a ele? E daí? Ele chamaria Rachel e ela lhe diria que não foi nada. Ou não. Cheguei à sala e bati à porta. – Entre. Abri a porta. O Sr. Grady estava sentado atrás de sua mesa e me olhou por cima dos óculos. Estava sem paletó e usava uma camisa social de manga curta que provavelmente tinha sido do seu tamanho alguns anos atrás, mas agora parecia um torniquete em volta do seu pescoço e do seu tórax. Ele se levantou e, segurando no cinto, puxou a calça para cima. Ela era verde-oliva. Seu cabelo era bem ralo, penteado para trás e colado no couro cabeludo. – Mickey Bolitar? – Sim. – Sente-se, filho. Olhei para o relógio na parede atrás dele. Não tinha tempo para aquilo. O sinal de saída tocaria em dois minutos. Era esse o tempo que faltava para eu confrontar Rachel novamente. Ele notou minha hesitação e repetiu o “sente-se” com um pouco mais de autoridade. Eu obedeci. – Você joga basquete? – perguntou. Ah. Então eu tinha razão. – Jogo. – Seu tio foi um grande jogador. – Sim, é o que dizem. Grady assentiu e colocou as mãos na barriga. Eu queria terminar com aquilo logo, mas não sabia bem o que dizer. – Quando começam os testes para entrar no time? – perguntei só para falar alguma coisa. – Daqui a duas semanas – respondeu ele. – Para o time principal, ou seja, para os alunos mais adiantados, começa na segunda- feira. Para o juvenil, que é o time dos alunos do primeiro e do segundo anos, na terça. Ele me fitou nos olhos e depois prosseguiu: – Não sou a favor de convocar alunos do segundo ano para o time principal, exceto em casos muito especiais. Na verdade, durante meus 12 anos como treinador na escola, não fiz isso nenhuma vez, e com tantos titulares voltando... Ele não concluiu o raciocínio. Não havia necessidade. Fazia tempo que eu sabia que você não deve falar sobre o seu jogo: é o seu jogo que deve falar por você. Então apenas fiz que sim com a cabeça e fiquei calado. O sinal de saída tocou. Comecei a me levantar, supondo que nossa conversa tivesse acabado, quando o Sr. Grady disse: – Mas não foi para isso que chamei você. Quero dizer, o assunto aqui não é basquete. Ele esperou por uma resposta, então eu disse: – Ah, não? – Fui comunicado de que você se envolveu em uma briga com outro aluno. Eu devo ter parecido confuso. – Troy Taylor – prosseguiu ele. – No estacionamento da escola. Era só o que me faltava. Cogitei me defender dizendo que ele é que havia começado, mas não me parecia nada sensato iniciar minha relação com um novo técnico de basquete acusando o capitão do time dele. Então optei pelo silêncio. – Quer me contar o que houve? – Não foi nada – falei. – Só um mal-entendido. Já resolvemos isso. – Entendo. Ele voltou a se sentar e ficou mexendo em uma caneta. – Não sei em que escola você estudava antes de vir para cá, Mickey, mas aqui o regulamento proíbe expressamente qualquer tipo de briga. Se você encostar um dedo em outro aluno, é automaticamente suspenso e corre o risco de ser expulso. Fui claro? – Sim, senhor. Lancei um olhar para o relógio. Não pude evitar. Grady notou. – Tem algum compromisso, filho? – Combinei com uma amiga de encontrá-la depois da aula. – Não vai poder ser hoje. – Como? – Vou deixar barato desta vez. Você vai para a detenção. Hoje. – Hoje eu não posso – falei. – Por que não? – Tenho um compromisso muito importante depois da escola. – Você está morando com seu tio no momento, certo? – Sim. O Sr. Grady pegou o telefone em sua mesa. O aparelho era grande e pesado, como se viesse do cenário de um filme em preto e branco que passaria na tevê a cabo. – É só me dar o telefone dele. Eu ligo e explico por que você vai se atrasar. Caso seu tio diga que é importante e que você não pode ficar na escola hoje, tudo bem, você cumpre a detenção amanhã. O pânico soltou minha língua: – Troy pegou o laptop do meu amigo. Ele me atacou primeiro. Eu só me defendi. Grady arqueou uma sobrancelha. – Tem certeza de que é assim que quer que as coisas sejam, filho? Não. Eu me acalmei. Na verdade, não tinha alternativa. Perguntei se poderia enviar um torpedo antes de ir para a detenção. Grady autorizou. Mandei uma mensagem para Rachel dizendo que eu sairia em uma hora e perguntando se ela poderia esperar por mim. Não tive resposta. Eu nunca tinha cumprido detenção antes, mas também nunca havia estudado em uma escola secundária americana. Não sabia bem o que esperar, mas foi basicamente uma hora de puro tédio. Você fica sentado na sala junto com outros alunos. Não pode usar telefones, aparelhos eletrônicos, ler um livro, nem fazer nada. A maioria simplesmente deita a cabeça na carteira e tira um cochilo. Eu fiquei buscando padrões nos ladrilhos do chão. Como estávamos numa sala preparada para educação no trânsito, comecei a ler as informações de segurança afixadas nas paredes. Falavam sobre beber e dirigir, mandar torpedos e dirigir, correr no trânsito e tudo o mais que pode acontecer quando se está ao volante. Pensei em meu pai. Relembrei nosso acidente de trânsito e me perguntei se o motorista do utilitário estaria bêbado, mandando torpedos ou correndo. Visualizei o paramédico louro de olhos verdes e seu rosto, que havia revelado que minha vida nunca mais seria a mesma. Quando a hora finalmente passou – a hora mais lenta que você poderia imaginar –, peguei meu celular para conferir se havia alguma mensagem. Nenhuma. Desanimado, me encaminhei para a porta de entrada da escola – e lá estava ela. Fui correndo em sua direção. – Obrigado por esperar. Rachel meneou a cabeça, sem dizer nada. Parecia distraída, insegura. – Então, o que você ia me explicar? – perguntei. – Você me viu em um vídeo de segurança, certo? Foi então que entendi. Ela não estava distraída. Estava com medo. – Isso mesmo. – Como? Quero dizer, como teve acesso às gravações de segurança da escola? Eu meneei a cabeça. Não confiava o suficiente nela para lhe contar sobre Colherada. – Isso não importa. – Para mim, importa – disse ela. – Mais alguém sabe? – Que diferença faz? – Por que você iria querer assistir a um vídeo de segurança? – Já disse. Estou tentando descobrir o que aconteceu com Ashley. Por que você mexeu no armário dela? – O que você acha? – Não faço ideia – respondi. – Você me disse que não a conhecia direito. – E é verdade – disse Rachel. Abri os braços, deixando claro que não a estava entendendo. – Apesar disso, lá estava você, esvaziando o armário dela – argumentei. Rachel desviou o olhar e balançou a cabeça. – Você não entende. – Tem razão. Não entendo mesmo. Então me explique. E por que não aproveita para dizer por que estava fingindo ser minha amiga também? – Ela me pediu para fazer isso. – Ashley lhe pediu para fingir ser minha amiga? Rachel suspirou, como se eu jamais pudesse compreender. – Ela me pediu que ficasse de olho em você. Queria ter certeza de que você estava bem. – Bem? – repeti, minha cabeça a mil por hora. – Do que você está falando? – Ashley não queria que nada de ruim acontecesse com você. Não queria que acabasse se envolvendo. – Me envolvendo no quê? – Não cabe a mim dizer. Ela disse que eu não podia contar a você. Meu coração acelerou. – Espere um instante. Ashley falou isso? – Falou. – Então você sabe onde ela está? Ela não respondeu. – Rachel? Ela levantou a cabeça devagar. Nossos olhos se encontraram. Eu sabia que deveria estar escaldado àquela altura, mas se fosse uma armação, se ela estivesse me enganando... Não. Dizem que os olhos não mentem. Eu vi algo nos dela, na maneira como ela me encarou, e o que havia ali não era dissimulação. – Sim – falou Rachel finalmente. – Eu sei onde Ashley está. – Onde? – Venha – disse, afastando o olhar do meu. – Vou lhe mostrar.
Capítulo 19
ANDAMOS EM UM SILÊNCIO confortável por algum tempo. Tentei aguardar, na esperança de que Rachel tomasse a iniciativa e dissesse algo por vontade própria, mas isso não aconteceu. – Para onde estamos indo? – perguntei, enfim. – Para a minha casa. – Ashley está lá? Ela fez uma cara de talvez sim, talvez não. – Você vai ver. – Como assim? O que aconteceu? – Vou deixar que Ashley explique. – Prefiro ouvir de você. – Como disse antes, não cabe a mim explicar. Andamos mais um pouco em silêncio. – Mickey? Eu olhei para ela. – Eu não estava fingindo ser sua amiga. Quero dizer, é verdade que Ashley me pediu para ficar de olho em você e que talvez tenha sido por isso que me aproximei, mas depois... Ela se interrompeu, sem tirar os olhos da calçada, então falou: – Deixa pra lá. Eu quis dizer alguma coisa, pegar a mão dela ou sei lá, mas não soube o que fazer. Meu celular vibrou. Era um torpedo de Ema: kd vc? Mostrei a mensagem para Rachel. Ela balançou a cabeça. – Não responda – pediu. Fiz que sim com a cabeça e guardei o aparelho. A vasta propriedade da família de Rachel (não era uma casa simplesmente, era uma propriedade) ficava no topo de uma colina, com um portão eletrônico na entrada. Rachel digitou uma senha no teclado numérico e o portão se abriu. Começamos a subir o caminho. – Seus pais estão em casa? – perguntei. Um sorriso atravessou seus lábios. – Não. O sorriso dizia alguma coisa, mas eu não sabia bem o quê. – Ashley está aqui? – Está. – Onde? – Na casa de hóspedes nos fundos. – Há quanto tempo ela está aqui? – Mais de uma semana. – Então seus pais sabem? – Digamos apenas – Rachel foi falando com um leve sorriso, que dessa vez pude ver que era triste – que meus pais não param muito em casa. Tudo ali fazia pensar em muito dinheiro. Demos a volta até os fundos, passando pelo pátio de mármore e pela quadra de tênis de saibro. Havia uma pequena casa perto da piscina. Apontei para ela com o queixo. – Ashley está ali? – perguntei. – Está. Engoli em seco e apertei o passo. Até que enfim. Todas as minhas perguntas estavam prestes a ser respondidas. Chegamos à porta. Rachel pegou uma chave, colocou-a na fechadura e girou a maçaneta. – Ashley? – chamou ela. Nenhuma resposta. – Ashley? Ainda nada. Entramos na casa. A cama estava feita e o quarto, arrumado. Mas não havia ninguém ali. Olhei para Rachel. Seu rosto havia ficado pálido e seus olhos estavam arregalados. Vasculhei o quarto com o olhar e notei um bilhete sobre a mesa ao lado da cama. Eu o peguei. Rachel chegara ao meu lado e olhava por cima do meu ombro.
Rachel, Desculpe por fugir deste jeito. Não posso explicar sem envolver você ainda mais nesta história. Obrigada por me acolher, mas não posso ficar escondida para sempre. Não chame a polícia. Preciso fazer uma coisa. Ashley
– Não entendi – disse Rachel. – Ela estava apavorada. Agora estávamos na casa de Rachel. Tínhamos conferido rapidamente os cômodos para ver se Ashley não estava por lá. E não estava. Não havia ninguém. O casarão estava silencioso como um mausoléu. – Me conte o que aconteceu – pedi. – Pouco mais de uma semana atrás, tivemos testes para a equipe de animadoras de torcida da escola. Só havia três vagas e apareceram umas 50 garotas. Uma delas foi Ashley. Fiquei surpreso. – Ela queria entrar para a equipe de animadoras de torcida? Rachel fez que sim com a cabeça. – E como se saiu? – Não muito bem. A seleção estava sendo feita por três animadoras da equipe: Cathy, Brittany e eu. Achei que Ashley era boa, que tinha talento, mas o teste dela foi, hum... esquisito. – Em que sentido? – A nossa escola é tradicional. O que fazemos é animação de torcida clássica, mais baseada em ginástica. A maioria das garotas fez apresentações básicas, executou acrobacias e cambalhotas, mostrou que sabia entrar na formação de uma pirâmide, esse tipo de coisa. Mas Ashley preferiu dançar. Achei que ela se saiu muito bem, que era promissora, só que as outras garotas acharam... – Acharam o quê? – Que a apresentação dela foi meio... Ela se deteve, buscando as palavras certas ou com medo de dizê-las. – Bem, foi bastante ousada – disse por fim. – Não exageradamente, mas o suficiente para dar às outras garotas o que falar. Fiquei calado. Pensei no Go-Go Lounge Plano B e tive vontade de fechar os olhos. – Quando Ashley terminou sua apresentação ficou, bem... esperando pelos aplausos. Ninguém aplaudiu. Ela ficou parada ali, nervosa, aguardando alguma resposta. Então as garotas caíram na pele dela. Primeiro Cathy deu uma risadinha e disse: “Cadê sua barra de pole dance?” Daí as duas começaram a falar das roupas, do cabelo, de tudo o que você possa imaginar. – O que havia de errado com as roupas e o cabelo dela? – Você é homem, não percebe. As roupas eram de segunda mão. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. – E daí? Vocês implicaram com Ashley porque as roupas dela eram usadas? São tão esnobes assim? Rachel pareceu ficar magoada ao ouvir isso. – Vocês? – Só quis dizer que... – Eu não sou esnobe. Não me importa quanto dinheiro uma pessoa tenha ou deixe de ter. Essa não é a questão. – Então, qual é a questão? – As roupas não eram nem de segunda mão, pareciam de terceira ou quarta. Tinha alguma coisa enganosa naquilo. Era como se Ashley tivesse ido a um brechó e procurado por uniformes escolares dos anos 1980. Suéter com monograma? Fala sério! – Ainda não estou entendendo. – Era como se Ashley estivesse tentando parecer algo que não era – explicou Rachel. – Como se estivesse disfarçada. Enfim, a coisa ficou cruel. Todo mundo começou a rir dela. – Você também? – Não – respondeu Rachel depressa. Ela olhou para o chão e sua voz ficou mais baixa: – Mas também não impedi minhas colegas. Deveria ter impedido. Ashley ficou ali, sozinha, na frente de todo mundo. Ela não conhecia a gente. Parecia tão vulnerável, e lá estávamos nós, rindo da sua cara, até que ela finalmente saiu correndo. Rachel se calou. Tentei imaginar a cena e como aquelas risadas devem ter magoado Ashley. – Que coisa bonita – disse eu, tentando soar sarcástico, mas não ríspido. – É, eu sei. – O que aconteceu depois? – Saí correndo atrás dela. Enfim, para me desculpar. Ashley desceu a Collins Drive, então eu segui pelo mesmo caminho. Olhei ao longo da Mountainside Road e a vi uns 100 metros adiante, andando em direção à Northfield Avenue. Chamei seu nome, mas ela não parou. Não sei se não me ouviu ou se estava apenas me ignorando. Rachel parou de falar e engoliu em seco. – E então aconteceu uma coisa estranha – disse ela. – O quê? – Um carro surgiu ao lado dela cantando pneus e um cara enorme saltou do banco do carona antes mesmo de ele parar. Ela tentou recuar, mas o sujeito a alcançou depressa. Quero dizer, ele levou um ou dois segundos para agarrar Ashley e a jogar sobre o ombro. Ela gritou. Eu gritei também. Então saí correndo o mais rápido que pude na direção deles. Nem pensei no que estava fazendo, apenas comecei a correr e a gritar, mas o homem me ignorou. Ele tentou jogar Ashley para o banco de trás, mas ela resistiu. Conseguiu se agarrar ao carro e ficou puxando o corpo de volta. O homem começou a empurrá-la, mas ela aguentou firme. O motorista gritou “Rápido!” e aí, por incrível que pareça, o grandalhão armou um soco. Ele puxou o punho para trás, mas a essa altura eu estava mais perto. Tornei a gritar, para chamar a atenção dele. Saquei meu celular e apontei para o sujeito. Então gritei: “Acabei de ligar para a emergência e estou gravando tudo. Solte a minha amiga.” – Era verdade? – perguntei. – O quê? – Você estava gravando? – Quem me dera. Mas ia precisar achar o ícone do aplicativo, clicar nele e depois pressionar GRAVAR... Não dava tempo. Foi só a minha reação. Meu telefone vibrou outra vez. Olhei rapidamente para o aparelho. Era Ema de novo: kd vc??! IMPORTANTE!!! Não dava tempo de responder agora. Acenei com a cabeça, sinalizando para que Rachel continuasse. – Bem, o homem acabou se virando para mim e Ashley se aproveitou disso. Ela deu um chute nele e o sujeito cambaleou para trás. Então ela se libertou e saiu correndo. O sujeito ameaçou ir atrás dela, mas me viu com o telefone na mão e deve ter decidido que seria melhor não se arriscar; então saltou de volta para dentro do carro. Antes de os caras darem o fora, o motorista gritou com a voz mais sinistra que já ouvi: “Não dá para se esconder para sempre, Ash. Sabe muito bem que vou encontrar você.” E então eles foram. – Você anotou a placa? Rachel fez que sim com a cabeça. – Memorizei o número e depois saí correndo para ver se Ashley estava bem. Comecei a telefonar de verdade para a emergência, mas ela colocou a mão sobre a minha e sussurrou: “Você não pode chamar a polícia.” Parecia muito assustada. Rachel estava com as mãos no colo e começou a girar nervosamente o anel em seu indicador direito. Meu telefone vibrou de novo. E de novo. Eu nem olhei. – Por que Ashley não quis que você ligasse para a polícia? – Ela disse que isso só pioraria as coisas. Implorou para que eu não ligasse, então o que eu podia fazer? Nós voltamos para cá, para a minha casa. A princípio, Ashley não quis falar a respeito. Ficou apenas chorando e dizendo que era tudo culpa dela. Eu falava que não era, mas ela não queria ouvir. Fui para o computador e busquei o telefone da família Kent no Google. Falei “Vamos ligar para os seus pais”, mas ela me deteve outra vez. Disse que seu sobrenome verdadeiro não era Kent, que ela havia pesquisado até encontrar uma família que morasse em Kasselton e não tivesse filhos na rede de ensino da cidade. Depois simplesmente fingiu que era filha deles para poder se matricular na escola. – Dá para fazer uma coisa dessas? Rachel deu de ombros. – Parece que sim. – Então os Kent nem sabiam a respeito dela? – Acho que não. Ela me disse que trabalhava em uma boate horrível e que todo mundo lá achava que algum pervertido a tivesse raptado e vendido para o exterior como escrava branca. Mas ela conseguiu fugir. Escrava branca, pensei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Candy tinha falado sobre como Antoine fazia as garotas desaparecerem com a “morte branca”. Morte branca, escrava branca... só podia ser a mesma coisa. – Então – disse Rachel – ela estava aqui, em Kasselton, se escondendo do passado até ir para seu destino final. – Destino final? – Foi o que ela disse. Como se ficar aqui em Kasselton fosse apenas temporário. Mas Ashley gostava daqui. Ela disse... disse que nunca havia se sentido tão feliz na vida. Tinha tentado encontrar uma maneira de tornar Kasselton seu destino final, mas por causa disso eles a encontraram. Segundo ela, esse foi seu erro. Meu telefone vibrou outra vez. Arrisquei uma olhadela. Sim, era Ema: preciso mostrar uma coisa pra vc. prometa q naum vai ficar c/ raiva. – O sujeito no carro – falei para Rachel. – Ele tinha uma tatuagem no rosto? – Não. Era alto, da sua altura, talvez, mas os ombros dele tinham o dobro da largura dos seus. E ele era negro. Pensei em Derrick, o leão de chácara do Go-Go Lounge Plano B. – Como eles a encontraram? – Ashley não sabia, mas acho que descobri – falou Rachel. – Como? – Vocês dois eram novos na escola, não eram? – Éramos. – Então participaram daquela dinâmica de grupo esquisita da Sra. Owens. Eu me lembrava. Putz, que coisa mais ridícula aquilo. – E daí? – Nós recebemos o Star-Ledger aqui em casa todos os dias. Fizeram uma matéria sobre o assunto. Uma das fotos era de uma espécie de corrida de revezamento. E dava para ver Ashley nela muito claramente. O Star-Ledger era o maior jornal do estado e cobria Newark. Fazia sentido. – OK – disse eu –, então vocês voltaram para cá. O que fizeram em seguida? – Ashley precisava se esconder e resolver isso. Eu disse que ela poderia ficar aqui em casa. Eu abri a boca, mas ela ergueu a mão para me impedir de falar. – Respondendo sua próxima pergunta, meus pais são divorciados. Minha mãe mora na Flórida. Meu pai está na terceira esposa troféu. Eles viajam bastante. – Você tem irmãos? – Um irmão mais velho, mas ele está na faculdade. Sim, nós temos empregados em tempo integral, mas eles só vão até a casa da piscina às quintas-feiras. – Então você a hospedou ali. – Sim. Ashley estava preocupada com a ideia de que os caras que tentaram pegá-la continuassem procurando por ela. Disse que eles seriam implacáveis, que talvez até fossem atrás do seu único amigo na cidade. – Que seria eu – falei. Ela assentiu. – Fui até o armário de Ashley e peguei o caderno e as roupas dela. Ela havia anotado seu nome e telefone. Vocês trocaram anotações de aula. Se aqueles caras as encontrassem, saberiam que vocês eram próximos. Mas, mesmo assim, ela não ficou segura de que eles ainda não tivessem ido atrás de você. – Então foi por isso que pediu para você ficar de olho em mim. – É. – E foi o que você fez. Chegou até a me chamar para fazer dupla com você na aula de história. Rachel correu os olhos pela sala de estar ridiculamente formal como se nunca a tivesse visto na vida. O cômodo parecia pertencer a um palácio europeu. Estávamos sentados em um sofá bem pouco acolchoado. – Por quê? – perguntei. – Por que o quê? – Você mal conhecia Ashley. Ela não era sua amiga. – É verdade. – E era perigoso. Eles tinham visto seu rosto. Poderiam descobrir onde você morava. – Imagino que sim. – Então por que a ajudou? Rachel refletiu por alguns instantes. – Porque ela estava em apuros. Porque não a ajudei no teste para animadora de torcida. Não sei. Eu quis ajudar. Parecia a coisa certa a fazer. Não quero que pareça mais importante do que é realmente, mas é assim que entendo. De certa forma, me senti obrigada. Fiquei calado. Sabia o que ela queria dizer. Meus pais levaram uma vida cheia de obrigações. Se alguém houvesse lhes perguntado por que, eles provavelmente teriam dado uma resposta parecida com a de Rachel. Meu telefone tornou a vibrar. Eu o peguei com um suspiro. Surpresa! Outra mensagem de Ema: queria mostrar pessoalmente, mas estou mandando a imagem agora. está aqui há meses. Havia uma imagem em anexo. Cliquei nela e o arquivo abriu. Demorei um pouco para entender a foto. Era em close e estava desfocada. Dava para ver que era a pele de alguém. Inclinei um pouco a cabeça, olhei melhor e então senti meu sangue gelar. Era uma tatuagem azul e verde, agora dava para ver. E o desenho era aquele mesmo emblema – a borboleta estilizada, com olhos de animal nas asas. Com as mãos trêmulas, digitei: de quem é essa tatuagem?? Ema não respondeu de imediato. Rachel olhou para mim. Esperei pelo torpedo seguinte. Estava demorando mais do que devia. Por fim, um minuto inteiro depois, quase como se as próprias letras estivessem hesitando, a resposta chegou: minha.
Capítulo 20
PEGUEI MINHA CARTEIRA de motorista falsa e encontrei Ema nos arredores da Kasselton Avenue. Ela entrou no Ford Taurus com uma expressão constrangida no rosto. – Não estou entendendo nada – falei. – Foi Agent quem teve a ideia – explicou Ema, falando depressa. Era para lá que estávamos indo, para o Tattoos While U Wait, para confrontar Agent. – No verão, eu fui até a loja fazer uma tatuagem nas costas. Queria algo grande e impactante. Aí ele fez um desenho superelaborado, com arabescos e letras rebuscadas, e então... – Ela se deteve. – Você está me olhando de um jeito esquisito. – Você só pode estar brincando. Ema ficou calada. – É claro que estou olhando de um jeito esquisito para você – falei, com mais rispidez do que pretendia. – Essa tatuagem estava em uma fotografia antiga na casa de dona Morcega. Estava naquela lápide no quintal dela. E, para completar, alguém a gravou na ficha que marcava o túmulo do meu pai. E agora aparece de repente numa tatuagem nas suas costas? – Eu sei. Também não entendo. Olha só, a tatuagem é bem grande e a borboleta é só um detalhe. Nem estava no desenho original, mas Agent disse que ele teve uma inspiração. Eu balancei a cabeça. – Então por que não me contou a respeito dela assim que a viu naquela lápide? – Você saiu correndo, lembra? E foi preso. – E quanto a ontem, no Baumgart’s? Ou hoje na escola? Ema ficou calada. – Hein? – instiguei-a. – Pare de gritar comigo – disse ela. – Não estou gritando. É só que... como você pôde esconder isso de mim? – Bem, você também não me contou que teria um encontro secreto com a gostosona da escola hoje, contou? Ela cruzou os braços. – Você não me conta tudo, eu não conto tudo para você. – Ema? – Que foi? – Você sabe muito bem que isso é conversa fiada. Por que não me contou sobre a tatuagem? Ema olhou pelo para-brisa. Estávamos nos aproximando da loja de Agent. Não havia motivo para pressioná-la, ainda não, mas eu queria saber o que estava acontecendo. Liguei o rádio, mas ela estendeu a mão e o desligou. Então se recostou no banco e disse: – Fiquei com medo, está bem? – Medo de quê? Ema balançou a cabeça e franziu as sobrancelhas. Estava usando um anel de prata em cada dedo, o que lhe dava um ar meio cigano. – Para um cara tão inteligente, às vezes você é bem tapado. – Pois é. Então por que você não me explica melhor as coisas? – No início eu nem tive muita certeza. Quero dizer, aquela coisa na lápide podia só parecer com a minha tatuagem, podia não ser igual. – No início – repeti. – É. – E depois? Lancei um breve olhar para ela. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. – Eu tenho cara de quem tem muitos amigos? Fiquei calado. A voz de Ema mal passava de um sussurro quando ela prosseguiu: – Achei que você fosse ficar com raiva. Ou me culpar. Ou não acreditar e deixar de confiar em mim. Achei... Ela se virou para eu não poder ver seu rosto. – ...que você não fosse querer mais ser meu amigo. A dor em sua voz partiu meu coração. Quando chegamos a um semáforo, falei: – Ema? – O quê? – Olhe para mim. Ela olhou. Seus olhos estavam marejados. – Eu colocaria minha vida em suas mãos – disse. – E você pode até não gostar da ideia, mas é a melhor amiga que já tive. Depois disso, não havia muito mais a dizer. Seguimos em silêncio pelo restante do caminho até a loja de tatuagens. O Tattoos While U Wait estava a todo o vapor quando chegamos. Seguimos direto para a área de Agent, nos fundos, mas não havia ninguém lá. Fiquei parado diante da cadeira como se pudesse fazê-lo se materializar ali pela força do meu pensamento. Nada aconteceu. – Mickey – chamou Ema. Olhei para ela, que apontava para um espelho na mesa de Agent. Fomos os dois em direção a ele. Ficamos parados ali, com medo de nos mover. Colado com fita adesiva ao canto esquerdo inferior do espelho, estava o mesmo símbolo de borboleta. – Oi, Ema. Gostaram? Eu me virei na direção da voz. Não, não era Agent, mas imaginei que fosse outro tatuador ou algum cliente assíduo. Cada pedaço de pele à mostra em seu corpo estava coberto de tinta. Pensei em tatuagens, na ligação entre elas, nas imagens nas costas de Ema e no rosto de Antoine... e, para o meu horror, na tatuagem gravada à força em uma jovem chamada Elizabeth Sobek no campo de concentração de Auschwitz. – Oi, Ian – falou Ema, tentando soar casual. – Sabe onde está Agent? – Não está aqui. Ian olhou primeiro para Ema e depois para mim. Eu o encarei com um olhar inexpressivo. – Bem, pois é, dá pra ver – disse eu. – Sabe onde ele está? – perguntou Ema. – Ou quando volta? – Ele saiu – falou Ian. – Vai demorar um pouco. – O que é um pouco? – perguntei. – Tipo esta noite ou... – Esta noite, não. Nem esta semana. A essa altura, Ian estava me encarando abertamente, analisando-me como se eu fosse um cavalo que ele estivesse interessado em comprar. – Você deve ser Mickey – falou ele. Fiquei surpreso. – Nós nos conhecemos? – perguntei. – Não. Agent me falou que você apareceria. Lancei um olhar para Ema. Ela encolheu os ombros para mostrar que também não entendia. – Ah, é? Ian fez que sim com a cabeça. – Ele me pediu para fazer o trabalho por ele, mas não disse onde. Braço, coxa, costas... onde você vai querer? Eu me aproximei um passo. – Mas eu não tenho hora marcada. – Ah, eu sei. – Então quando diz que já esperava que viéssemos... – Agent não avisou quando. Só falou que vocês viriam. E disse que, quando aparecessem, eu deveria fazer sua tatuagem. Ele até deixou o desenho ali. Você viu? Ele apontou com o queixo para o canto esquerdo do espelho, para a mesma imagem que eu tinha visto na casa de dona Morcega, no túmulo de meu pai e nas costas de Ema. – Gostou? – perguntou Ian. Demorei alguns instantes para recuperar a fala. – O que é? – perguntei. Minha voz sou estranhamente sussurrada aos meus próprios ouvidos. Foi a vez de Ian parecer surpreso. – Você não sabe? Eu balancei a cabeça. – Agent não lhe contou? – Não. Foi a vez de ele balançar a cabeça. – Que estranho. Por que ele acharia que você iria querer aquela tatuagem sem nem saber o que é? – Não sei – respondi. – Mas talvez você possa me dizer. Ele refletiu por alguns instantes. Nós esperamos. Por fim, disse: – É uma borboleta. Tive que conter minha impaciência. – É, isso a gente percebeu. – Mais especificamente – prosseguiu ele –, é uma Tisiphone abeona. Senti um nó no estômago ao ouvir aquela última palavra. Engoli em seco. As palavras dele ecoaram em minha cabeça. – O que você disse? Algo na minha voz deve ter soado como uma ameaça. Ian levantou as mãos como se quisesse se defender. – Opa, calma aí, cara. Eu respirei fundo. – Qual você disse que é a espécie daquela borboleta? – Ei, foi o Agent quem me contou. Não parava de falar nela. – Por favor – pedi, tentando manter minha voz sob controle. – Só me diga o nome da borboleta outra vez. – Tisiphone abeona. Engoli em seco novamente. – Abeona – repeti. – Isso – falou Ian, agora sorrindo. – E você sabe quem foi Abeona? Fiquei calado. – Agent e eu nos interessamos por deusas e deuses antigos, porque as pessoas costumam querer tatuá-los. Abeona era uma deusa romana, sabia? Fiquei parado ali, pasmo. Pensei na carta de demissão do meu pai: “Sei que ninguém realmente abandona o Abrigo Abeona...” – Não sou muito fã desta – continuou Ian –, mas Abeona era uma espécie de deusa protetora. Ela cuidava das crianças quando elas se afastavam de seus pais pela primeira vez, defendendo-as em sua primeira viagem para longe de casa. Ou algo assim. Mas a coisa mais estranha dessa borboleta é, bem, o nome dela. Tisífone era uma das Fúrias, aquelas divindades da Grécia Antiga, sabe? Ela punia crimes graves, como assassinatos e tal, principalmente quando havia crianças em perigo. Conhece a história dela? Fiz que não com a cabeça, com medo de falar. – É o seguinte: acidentalmente o pai dela, Alcmeão, deixou Tisífone e seu irmão, Anfíloco, com Creonte, que era o rei de Tebas. Só que Tisífone, apesar de novinha, era a maior gata, então a esposa má de Creonte a vendeu como escrava. O que a esposa não percebeu foi que o cara que comprou Tisífone na verdade trabalhava para Alcmeão, o pai dela. Entendeu? Era tudo um grande plano para salvar seus filhos. – Como você sabe isso tudo? – perguntei. – Caramba, Agent não falava de outra coisa. É por isso que ele adora essa borboleta. Acho que ela é nativa da Austrália ou da Nova Zelândia, um lugar desses, mas foi batizada tanto em homenagem a Tisífone quanto a Abeona. É por isso que ele adora colocá-la em seus trabalhos. Está vendo aqueles olhos nas asas? Não parece que ficam observando você? Para ele, esse símbolo tem tudo a ver com resgatar crianças, com lhes dar abrigo e proteção. Abrigo. O Abrigo Abeona. Onde meu pai trabalhou todos aqueles anos... – Ian – chamou Ema. – Sabe como podemos contatar Agent? Ian sorriu. – Ele disse que vocês perguntariam isso. Então quis que eu fosse bem claro. – Quanto a quê? – Não. Vocês não têm como contatá-lo. De jeito nenhum. Ele gesticulou para mim. – Então, o que me diz, Mickey? Pronto para fazer a tatuagem? Meu telefone vibrou. Olhei para o aparelho e vi que era um torpedo de Rachel: tenho uma pista sobre Ashley. – Agora, não – falei, correndo em direção à porta. Talvez nunca .
Capítulo 21
IRÍAMOS NOS ENCONTRAR na casa de Myron, mas uma rápida ligação para o celular dele impediu isso.
– Onde você está? – perguntou Myron. Não gostei do tom de voz. – Estou com uns amigos – respondi. – Dirigindo qual carro? O-ou. Ema estava analisando meu rosto. Fiz a palavra “encrenca” com a boca. – Sei que seu pai ensinou você a dirigir – falou ele. – Mas é ilegal. Você sabe disso. – Só vim à casa de uma amiga – argumentei. – Quem? – Rachel. Você a conheceu na noite passada. – Não podia ir andando? – Hã, olha, ela nunca sairia com um garoto da minha idade. Então, bem, eu falei que era mais velho. Uau, isso sim era uma desculpa esfarrapada. – Você mentiu? – Não, não exatamente. Eu só dei a entender... Olhe, eu vou contar a verdade a ela. Depois levo o carro para casa e nunca mais volto a usá-lo. – Mickey – falou meu tio, assumindo seu tom de voz paternal –, sabe o que vai acontecer se o chefe Taylor pegar você dirigindo? Fiquei calado. – Deixe o carro na casa da sua amiga e volte andando para casa – me orientou Myron. – Dou um jeito de pegá-lo depois. – OK – respondi. – Obrigado. Mas posso ficar mais um pouco? – Só se me prometer que vai contar a verdade a ela. Você não deveria mentir para a sua amiga. Putz. – Você tem toda a razão – falei com muito esforço. Queria mandar meu tio se catar, mas, acima de tudo, não queria que ele ficasse tomando conta da minha vida. – Sinto muito. Vou contar a ela agora mesmo. Tchau. Quando desliguei, Ema começou a rir. – Que foi? – perguntei. – Seu tio engoliu essa? Não pude deixar de sorrir. – Ele ainda tem muito o que aprender. – Parece que sim. Liguei para Rachel e mudamos o local de encontro para a casa dela. O portão da entrada se abriu assim que chegamos. Rachel devia estar vigiando. Ema ficou em silêncio. Não fez qualquer comentário enquanto seguíamos em direção à mansão. – Ainda não sei onde você mora – falei para Ema. – Temos coisas mais importantes para resolver, você não acha? Bem colocado. Quando paramos diante da casa, Rachel já estava nos esperando à porta. Ema olhou para ela com uma expressão que eu só podia chamar de resignada. – Qual o problema? – perguntei. – Ela é bonita mesmo, não é? Não sabia como responder, então fiquei quieto. Puxei a maçaneta e saí. Rachel sorriu ao me ver. O sorriso diminuiu um pouco quando viu Ema. Começamos a subir o restante do caminho em direção à casa. Rachel encarou Ema. Ema encarou Rachel. Eu não soube o que fazer. – Ashley não queria que ninguém ficasse sabendo disso – falou Rachel. – Fique tranquila – disse eu. – Ema está envolvida desde o começo. Rachel não pareceu gostar da minha resposta. Nem Ema. Tentei tocar a bola para a frente. – Você disse que tinha uma pista sobre Ashley? Rachel fez cara de desconfiada. – Fique tranquila – repeti. Ela suspirou e nos conduziu para dentro de casa. Fomos nos sentar na mesma sala pomposa em que Rachel e eu tínhamos estado poucas horas antes. – Este laptop estava na casa da piscina. Ashley o usou para checar seus e-mails. Consegui entrar na conta dela. – Como? – perguntei. Rachel pareceu um pouco constrangida. – Meu pai quase nunca está em casa – disse ela –, mas isso não significa que não fique de olho em mim. Ano passado, ele instalou um software em todos os computadores da casa para monitorar o que eu andava fazendo. – Que horror! – disse Ema. – Pois é, eu sei. – Pais... – comentou Ema, balançando a cabeça. Senti que as coisas começavam a melhorar entre as duas. Mas não muito. Melhorar talvez seja um termo muito forte. Degelar seria mais adequado. Mas era inegável. – Mas a questão é que meu pai é horrível com computadores. Ele simplesmente comprou um pacote on-line, não sabia direito o que estava fazendo. Então eu percebi o que estava havendo, depois descobri as senhas dele e, bem, agora meu pai vê o que eu quero que ele veja, se é que vocês me entendem. Não que eu tenha alguma coisa a esconder. A questão é essa: não tenho mesmo, mas... Bem, deixa pra lá. Rachel colocou seu cabelo atrás da orelha. – Enfim, o negócio é o seguinte: embora Ashley tenha apagado o histórico, consegui ver o que ela fez no computador. – E...? – perguntei. – Ela recebeu este e-mail hoje cedo. Rachel me entregou a mensagem impressa. Era curta e meiga: Ash, Estou muito encrencada. Ele acha que escondi você. Você sabe como ele fica. Sabe o que é capaz de fazer. Por favor, Ash, por favor, volte e me ajude. E então, no final da página, vi quem tinha enviado o e-mail: Candy. – Agora – falou Rachel –, a questão é: quem é Candy? – Eu sei quem é – disse eu, sentindo o medo voltar. Eu não via alternativa. Queria mais do que tudo ficar longe daquele lugar terrível, mas, de alguma forma, sabia que aquela história toda levaria a ele. Mesmo que significasse ficar cara a cara com Buddy Ray e seu leão de chácara enorme outra vez. Mesmo que significasse encarar Antoine LeMaire. Mesmo que significasse enfrentar a morte branca. Visualizei dona Morcega, que tinha algum tipo de ligação com meu pai e o Abrigo Abeona, fazendo as palavras “salve Ashley” com a boca para mim. Meu pai tinha trabalhado a vida inteira para o Abeona. Acho que agora eu entendia qual era a verdadeira natureza do que ele fazia. Eu não acreditava em destino. Nem sequer que as pessoas recebessem um chamado ou tivessem um propósito específico na vida. Como era mesmo que Rachel tinha dito? “Parecia a coisa certa a fazer.” Tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Era uma obrigação. Mesmo que eu quisesse virar as costas para ela, não poderia. Precisava salvar Ashley.
Capítulo 22
RACHEL E EMA HAVIAM passado quase uma década estudando na mesma escola e nunca tinham se falado. Uma era uma linda animadora de torcida. A outra era uma excluída zoada por todo mundo. E eu, Mickey Bolitar, havia finalmente encontrado uma maneira de uni-las. Como? Dizendo o seguinte: – Isso é algo que preciso fazer sozinho. Rachel e Ema pararam lado a lado, com os braços cruzados: – Não, senhor – disse Ema. – Você não vai deixar a gente para trás. – Nós vamos junto – anunciou Rachel. – E não nos diga que não é seguro – acrescentou Ema. – Se não é seguro para nós, não é seguro para você – continuou Rachel. – É isso aí, não venha com essa conversa fiada machista – emendou Ema. – Exatamente – concordou Rachel. – Não somos o tipo de garota que precise da proteção de um homem grande e forte. Talvez elas tenham falado mais (confesso que parei de ouvir depois de um tempo), mas eu não tinha a menor chance contra elas. Estava na cara que me render era a única opção, então por que adiar o inevitável? – Certo, qual é o plano? – perguntou Ema. Conferi as horas. Eram nove da noite. – Não sei. Imagino que o melhor seja ir até o Go-Go Lounge Plano B e ver se conseguimos encontrar Candy ou Ashley. – Eles vão reconhecer você – disse Rachel. Bem colocado. – OK, vamos pensar um pouco e ver se conseguimos bolar alguma coisa. Meu celular tocou novamente. Olhei para baixo e vi que era meu tio. Atendi com um “alô” hesitante. – Está ficando tarde – falou Myron. – Você contou a verdade a Rachel? – Contei. – Tem certeza? – Ela está bem aqui na minha frente. Quer que eu passe o telefone para ela? – Não precisa. Encontrei o endereço dela na internet. Minha amiga Esperanza está comigo. Estamos a caminho daí para pegar você e o carro. Meus olhos se arregalaram. Ema e Rachel perceberam e se aproximaram de mim. Eu inclinei o telefone para que elas pudessem ouvir. – Agora não – falei. – Estamos fazendo nosso trabalho de história. – Vocês dois estão na mesma turma de história? – perguntou Myron. – Estamos. – Então quer dizer que estão os dois no mesmo ano – disse Myron, com o que pareceu um quê de presunção na voz. – Por que Rachel, sabendo disso, acharia que você tem idade para dirigir? Ele havia me pegado nessa. – Espere um instante, Myron, estou recebendo outra chamada. Coloquei meu tio na espera e fui andando em direção à porta. – O que houve? – perguntou Rachel. – Rápido, ele já está chegando e vai levar o carro. Precisamos ir agora mesmo. Saímos os três correndo em direção ao Ford Taurus. Eu fui para o banco do motorista. Rachel e Ema hesitaram, sem saberem bem onde deveriam se sentar, mas Rachel logo solucionou o impasse. Abriu a porta do carona e disse: – Sente-se aqui, Ema. Ema obedeceu. Rachel fechou a porta e foi para o banco de trás. Saí do longo caminho de acesso da casa e segui para a esquerda. A essa altura, Myron já havia desligado e tentado me ligar de novo várias vezes. Não atendi. Rachel olhou para trás e falou: – Seu tio também usa um Ford Taurus? – Usa. – O-ou, ele está parando em frente ao portão. Pisei fundo no acelerador, dobrando rapidamente para a esquerda e depois para a direita, ziguezagueando pelas ruas até ter certeza de não estar sendo seguido. Então peguei a avenida principal em direção a Newark. Vinte minutos mais tarde (depois de uma longa discussão com Rachel e Ema que eu obviamente perdi), encontrei uma vaga no quarteirão do Go-Go Lounge Plano B, na calçada oposta. De onde estávamos, tínhamos uma boa visão da porta de entrada, mas isso não me tranquilizava. – Não estou gostando disso – falei. – É o único jeito – disse Rachel. – Você sabe muito bem. – Vai dar tudo certo – acrescentou Ema. Balancei a cabeça. Rachel e Ema ressaltaram o óbvio: eu não poderia voltar ao clube. Eles conheciam meu rosto. Eu havia inclusive batido em Derrick, o leão de chácara – que, graças a Deus, não estava trabalhando quando chegamos. Rachel tinha bolado um plano simples: ela e Ema iriam até lá fingindo estar à procura de trabalho. Isso lhes daria a chance de entrar, dar uma olhada na boate e, com sorte, avistar Ashley ou Candy, que eu havia descrito para elas. – Eu poderia entrar disfarçado – falei. Rachel e Ema riram ao ouvir isso. – Tipo o quê? – perguntou Rachel. – Um bigode falso? Uma peruca loura? E se eles pedissem sua identidade e vissem seu rosto de sempre? Não soube o que responder. – Nós já discutimos isso – acrescentou Ema. – Continuo não gostando. – Azar o seu – disse Rachel. – Olha só, Ema vai deixar o celular ligado o tempo todo. O aparelho de Ema estava com cinco pontos de carga, enquanto o meu só tinha um. – Você vai poder ouvir tudo – continuou Rachel. – É um espaço público, o que eles podem fazer? Além do mais, nós combinamos um código, não foi? – Amarelo – falei. – Exatamente. Se dissermos “amarelo” é porque estamos achando que não vamos dar conta sozinhas. – Deveríamos pensar melhor nisso – insisti. – Nós já pensamos – disse Ema. Antes que eu pudesse continuar argumentando, as duas já estavam na rua andando em direção à boate. Meu celular tocou. Eu já havia bloqueado Myron, então sabia que não era ele. Olhei para baixo e vi que era Ema. – Alô – atendi. – Está me ouvindo direito? – perguntou ela. – Estou. – Deixe seu telefone no mudo para eles não ouvirem o seu áudio – lembrou ela. Eu obedeci. Fiquei observando-as seguirem até a entrada. Rachel usava uma calça jeans justa. Ema, como sempre, estava com sua armadura negra completa. Eu sabia que Rachel não teria problemas para entrar. Não tinha dúvida de que seria bem-vinda. Meu maior medo era que fosse bem-vinda demais. Ema havia comentado que para ela talvez fosse difícil convencer os leões de chácara de que estava procurando trabalho como dançarina, ao que Rachel franziu as sobrancelhas e disse: “Bobagem, você está linda.” Se a frase tivesse partido de qualquer outra pessoa, teria parecido falsa e condescendente. Mas, vinda de Rachel, bem... até Ema acreditou. Concentrei meu olhar nos dois leões de chácara da entrada. Ambos eram bem menores do que meu amigo do dia anterior, o que havia tentado pegar Ashley na rua e prendido meus braços até eu lhe dar uma cabeçada. Imaginei se eu teria quebrado seu nariz, mas não ia perder o sono por causa disso. Os leões de chácara notaram Rachel e Ema indo em direção à entrada. Duvido que muitas mulheres fossem até lá como clientes, ainda mais estando sozinhas. Rachel e Ema pararam em frente à porta. Acompanhei a conversa pelo celular. – Olá, meninas, em que posso ser útil? – falou o leão de chácara da direita. – Queremos falar com alguém sobre trabalho – respondeu Rachel. – Que tipo de trabalho? – De dançarina, garçonete, sei lá. – O chefe vai adorar você. Mas a outra – disse o segurança da esquerda, apontando para Ema –, nem pensar. Minha vontade foi ir até lá e dar um soco na cara daquele sujeito. O homem da direita deu um tapa no braço do colega. – Deixa de ser grosso, cara. – Hã? – É – disse Rachel. – Deixa de ser grosso. – Eu acho a garota bonita – falou Leão de Chácara da Direita, sorrindo para Ema. – Você tem um rosto lindo, gatinha. – Obrigada – disse Ema. – E aposto que bota pra quebrar na pista de dança, acertei? – Na mosca – falou Ema, enquanto as duas começavam a passar pela entrada. – Quando eu começo a requebrar, não há quem me segure. No carro, eu sorria e pensava “Meu Deus, eu adoro essa garota”, quando a janela do motorista se estilhaçou. Uma chuva de cacos de vidros caiu sobre mim. Mal tive tempo de reagir enquanto duas mãos entraram no carro, me agarraram pela gola da camisa e me puxaram pela janela. Pedaços de vidro arranharam meu corpo, rasgando minhas roupas e penetrando na pele. Era Derrick, o leão de chácara. Tinha um esparadrapo branco cobrindo o nariz e parecia irado. – Ora, ora, ora. Vejam só quem voltou para dar um alô. Ele me atirou para o outro lado da rua. Minha cabeça bateu contra a lateral de um carro, amassando a lataria. Tentei me recompor, mas a tonteira foi mais forte. Precisava de um instante para recuperar o fôlego, mas não tive essa sorte. Derrick me deu um pontapé na cara. Tentei rolar para longe, mas ele já estava em cima de mim. Um soco na mandíbula fez meus dentes chacoalharem. Levei uma joelhada nas costelas e depois outro golpe me atingiu na nuca, sem que eu sequer soubesse de onde veio, me deixando atordoado. Meus olhos começaram a revirar para trás quando levei outro soco. Em seguida fui engolido pela escuridão. Quando despertei, estava sendo arrastado ao longo de um beco por Derrick. Ele segurava a parte de trás da gola da minha camisa com uma das mãos. A outra carregava um celular. A dor me invadiu, fazendo meus olhos lacrimejarem. A primeira coisa em que pensei foi Rachel e Ema. Elas não tinham a quem recorrer agora. Será que sabiam disso? Eu duvidava. Se tivessem visto Derrick me atacar, teriam gritado ou feito alguma coisa. Não, elas tinham entrado na boate. Sozinhas. Sem ninguém do outro lado da linha. – Estou levando o garoto, Buddy Ray – disse Derrick ao celular. – Nem precisa. Eu conseguia reconhecer a voz tranquila de Buddy Ray pelo telefone. – Conseguimos Ash de volta – acrescentou ele. – Então o que devo fazer com o garoto? – perguntou Derrick. – Onde você está? – No beco dos fundos. – Alguma testemunha? – Não. – Então dê conta dele por aí – ordenou Buddy Ray. Dê conta dele? O medo pode ter o efeito de um balde de água fria despejado na sua cara. Pensei em qual deveria ser meu próximo passo. Eu poderia me fingir de desacordado por mais alguns segundos e então atacá-lo de surpresa. De repente Derrick parou e me largou como se eu fosse um saco de roupa suja. Mantive os olhos fechados, fingindo de morto. – Abra os olhos, garoto. Quando não obedeci, ele me chutou com força nas costelas usando o bico da bota. A dor atravessou meu tórax como um raio. Meus olhos se arregalaram. Olhei para cima e deparei com o cano de uma arma. Não havia escolha. Saltei para agarrar a arma, mas Derrick estava preparado. Usando todo o seu peso e impulso, ele girou o quadril e me atingiu com um chute forte no meio do peito. Meu coração parou. Foi essa a sensação que tive, como se todos os meus órgãos internos – coração, pulmão e tudo o mais – tivessem entrado em falência. Desabei de volta no chão, incapaz de me mexer. Outro pontapé na nuca fez meus olhos se fecharem. Luzes fortes dançavam diante das minhas pálpebras cerradas. Não me movi. Acho que nem mesmo estava respirando. Fiquei apenas caído ali, indefeso, perdendo a consciência.
Até ouvir o tiro.
Capítulo 23
ENTÃO A MORTE era assim. Eu ansiava por meus pais. Pensei na noite, dois anos antes, em que estávamos com beduínos no inóspito deserto da Jordânia. Dormíamos em tendas feitas de pelo de cabra, que nos protegiam do clima hostil. Certa manhã, os zurros de animais próximos ao acampamento começaram a me despertar lentamente e eu fui pestanejando enquanto tentava abrir os olhos de vez. Então vi meus pais olhando para mim. Eles estavam juntos, os dois com sorrisos bobos nos lábios – você sabe como é: olhos marejados, expressão pateta no rosto, ou seja, mais constrangedor impossível –, mas agora eu daria tudo para ver aqueles sorrisos outra vez. Lembrei-me desse momento com toda a clareza e me perguntei – considerando que aquilo fosse mesmo a morte – se quando tornasse a abrir os olhos eu veria outra vez o sorriso paternal bobo do meu pai. Mas espere um instante. Se eu estivesse mesmo morto, por que ainda estaria sentindo a dor da surra que tinha levado? Minha cabeça latejava como se alguém houvesse deixado uma britadeira funcionando na potência máxima dentro dela. Será que era assim que você se sentia depois de morrer? Eu duvidava muito. Abri os olhos e, de fato, o que vi foi um rosto. Mas não era o do meu pai. Era o de Derrick. Seus olhos estavam abertos, imóveis, encarando o nada. Um buraco de bala impecável, perfeitamente circular, no meio de sua testa, ainda pingava um pouco de sangue. Não havia a menor dúvida: Derrick estava morto. Tentei não entrar em pânico. Não me mexi. Mantive a cabeça parada enquanto meus olhos vasculhavam, alucinados, ao redor. O cadáver de Derrick e eu estávamos na traseira de uma van. – Bom ver você acordado, Mickey. Olhei para trás de Derrick, em direção ao homem que havia falado. A primeira coisa que notei nele foi a tatuagem no rosto. – Está me reconhecendo? – perguntou ele. – Você é Antoine LeMaire. Algo lampejou em seu rosto – incerteza, talvez –, mas então ele sorriu para mim. – Em carne e osso. Tentei combater a dor e planejar meu próximo movimento. Será que conseguiria abrir a porta da van? Provavelmente estaria trancada. Estava tentando decidir o que fazer quando Antoine disse: – Se eu quisesse você morto, teria deixado Derrick atirar. – Você o matou? – Sim. Não sabia bem o que dizer. “Obrigado” não parecia ser exatamente uma boa escolha. Lembrei-me das palavras de Candy sobre Antoine e aquela van. – Ouvi falar – disse – que quando uma pessoa entra nesta van, ela desaparece para sempre. Antoine sorriu. Ele tinha um sorriso bonito, dentes retos e de um branco estilo comercial de pasta de dente. Era negro claro ou latino de pele mais escura, eu não conseguia decidir qual dos dois. – Bem – disse ele –, imagino que isso seja em grande parte verdade. Ele gesticulou para o cadáver de Derrick. – Sobretudo no caso dele. – E no meu? – Não, Mickey. Pelo menos espero que não. – Onde está Ashley? – perguntei. – Não sei – respondeu ele. – Estava procurando por ela também, lembra? – Para poder vendê-la como escrava branca? – Ah – disse Antoine, tornando a abrir seu sorriso. – Você já ouviu os boatos. – Está me dizendo que eles não são verdade? – Você não está me reconhecendo, Mickey? – Vi você numa gravação de vídeo de segurança. – Não disso. Hesitei. Havia algo ligeiramente familiar nele, mas, quanto mais eu tentava identificar o que era, mais a resposta me fugia. – De onde, então? Ele suspirou, puxou a manga da camisa e apontou para seu antebraço. Quando estreitei os olhos para enxergar melhor, meu mundo, que já estava fora dos eixos, sofreu outro golpe violento. Comecei a balançar a cabeça, sentindo-me perdido outra vez, mas lá estava ela, mesma tatuagem de borboleta. – Você... você é um deles? – “Um de nós” não seria mais exato? – Não entendi. – Acho que entendeu, sim, Mickey. E então, de repente, percebi que ele estava certo. Do nada e sem que eu precisasse refletir muito, as peças começaram a se encaixar. O Abrigo Abeona. Abeona era a deusa que protegia crianças. Desde a época de Elizabeth Sobek, na década de 1940, passando pelo trabalho de meu pai, até aquele instante com Ashley, era isso que eles faziam: resgatar, proteger e abrigar os mais jovens. – Buddy Ray é o vilão desta história – falei. Ele assentiu. – Ele coloca as garotas para dançar naquela boate – prossegui – e depois, bem... depois as coisas pioram. – E muito – falou Antoine. – Você não faz ideia das perversidades de que ele é capaz. A mãe de Ashley... A vida dela não foi nada boa. Acabou aqui, dançando e fazendo outras coisas para Buddy Ray. Ashley era a única coisa que importava para ela. Protegeu a filha da melhor forma que pôde, tentou lhe dar uma vida melhor. – Mas...? – Mas morreu. Mulheres como ela... não duram muito. E, depois que ela se foi, Ashley não tinha mais ninguém. Buddy Ray disse à garota que a mãe lhe devia dinheiro e que ela teria que pagar. – E o pai de Ashley? – Ela nunca o conheceu. Mas não teria feito diferença. Buddy Ray acha que as garotas são propriedade dele. Recorre a ameaças e violência. Mantém as garotas prisioneiras. Se não conseguem escapar, terminam como a mãe de Ashley. Mas se Buddy as pega tentando fugir... Ele deixou a frase no ar. Senti minha boca ficar seca, mas, de repente, tudo se tornou muito claro. – Então você as resgata – falei. – Finge raptar garotas como Ashley para vendê-las como escravas brancas, mas, na verdade, está fazendo o contrário: está tentando salvá-las. Antoine não falou nada. Não havia necessidade. – Você as realoca, como fez com Ashley. Primeiro em um lugar próximo, depois as transfere para algum destino mais permanente. Mas alguma coisa deu errado. A foto de Ashley apareceu no jornal. Buddy Ray ou um de seus capangas viu. – Essa é uma teoria. – Você tem outra? – perguntei. – Algum professor da sua escola – disse ele – pode trabalhar para Buddy Ray. – Quem? Antoine não respondeu. Tentei juntar as peças. – Nem Ashley sabe qual o seu papel, sabe? – Não. Nós a pegamos, mas não lhe demos maiores informações. Providenciamos uma nova identidade para ela e explicamos o que aconteceria em seguida. Depois disso, ela ficou por conta própria. – E quando Ashley se apavorou e fugiu, você não sabia onde ela estava, então também saiu em sua busca. – Exato. – Abriu o armário dela, mas estava vazio. Depois deu uma surra no Dr. Kent para descobrir o que ele sabia. – Não, isso quem fez foram Buddy Ray e Derrick. Deduziram que, já que ela estava usando o sobrenome da família Kent, talvez ele soubesse de alguma coisa. Cheguei a tempo de salvá-lo, mas, quando a esposa entrou em casa, só viu a mim. Foi por isso que me descreveu para a polícia. Antoine se deteve e me analisou por um instante. – Você está bem, Mickey? Eu não sabia o que responder. – Acho que sim. – Porque tem um trabalho a fazer. – Eu? – Não posso salvar Ashley. Isso arruinaria meu disfarce. Precisa ser você. Se chamar a polícia, Buddy Ray vai cortar a garganta dela e se certificar de que o corpo nunca seja encontrado. Se recorrer ao seu tio Myron... – Espere um instante. Você conhece meu tio? – Não. Mas você não pode pedir ajuda a ele. Seu pai tinha motivos para nunca ter lhe contado sobre o Abrigo Abeona. Inspirei bruscamente quando ele mencionou meu pai. – Você conheceu meu pai, não conheceu? Antoine LeMaire respirou fundo e soltou o ar devagar. – Conheci você também. Mas você era muito pequeno. E me conheceu como Juan. Meu queixo caiu. – Meu pai – disse eu. – Ele escreveu aquela carta de demissão para você. – Isso mesmo. – Queria abandonar o Abeona. Juan lançou um olhar rápido para a direita. – Sim. Por sua causa. Por mim. Meu pai fez aquela escolha por mim e de que adiantou? Ele morreu. A pessoa que eu mais amava no mundo... morreu por mim, para que eu não precisasse passar por nenhum desconforto nem tivesse uma criação fora dos padrões. Por causa disso, meu pai voltou para os Estados Unidos e morreu. E quanto à minha mãe? Ela deve ter percebido a verdade: que o marido tinha morrido por culpa do filho. Não era de espantar que ela fugisse de mim. Não era de espantar que preferisse uma agulha. Uma dor insuportável, que fazia a surra de Derrick parecer um tapinha no ombro, começou a fincar suas garras dentro de mim. Ergui os olhos para Juan. – Dona Morcega disse que meu pai ainda está vivo – falei, as lágrimas embaçando minha visão. – Mas ele não está, certo? A voz de Juan soou quase suave demais: – Não sei, Mickey. Eu assenti, incapaz de falar. – Você quer nos ajudar? – perguntou ele. Pisquei para afastar as lágrimas e o fitei nos olhos. Perguntei a mim mesmo o que meu pai iria querer que eu fizesse, mas talvez nem isso importasse mais. – Sim – respondi. – Sim, eu quero ajudar.
Capítulo 24
EU ESTAVA NO BECO, diante da mesma saída lateral que Candy tinha usado para me salvar, o celular colado à orelha. Rachel e Ema preenchiam lentamente seus formulários de emprego, tentando ganhar tempo, mas estavam começando a ficar sem desculpas. – Ops, hihihi – disse Rachel com uma voz sussurrada de loura burra. – Escrevi meu nome errado de novo. Pode me dar outro formulário? – Claro, gatinha – disse uma voz ríspida de homem. – Por que não usa um lápis desta vez? Assim pode apagar. – Nossa, que ótima ideia! – comentou Rachel com um gritinho. – E você? – perguntou a voz ríspida. – Não, não, eu consegui – falou Ema. – Sei escrever meu nome desde os 12 anos. Outra voz, desta vez feminina e mais velha, com jeito de matrona, disse: – OK, esqueçam os formulários. Está na hora do teste de vocês. Então ouvi os homens no recinto darem risadinhas. Não gostei daquilo. Nem um pouco. Estendi a mão para abrir a porta corta- fogo. Não havia maçaneta, nada em que segurar. Provavelmente só abria por dentro. – É isso aí – falou outro sujeito. – Está na hora de ver vocês dançarem, meninas. Você primeiro, Bambi. – Eu? – disse Rachel. Tentei enfiar os dedos nas laterais da porta, esperando conseguir abri-la à força. Nada. – Chega de enrolação – disse uma voz que soava como o baque de um portão se fechando. – Agora. Essa não. – Calma, Max. Está tudo bem, Bambi. Sério. Mas acho que agora você deveria nos mostrar como dança – disse a suposta mulher mais velha. – Hã, está ficando meio amarelo aqui dentro – falou Ema. Amarelo. O código. Não sabia ao certo o que fazer. Nós tínhamos combinado um código, mas não o que faríamos se Rachel ou Ema chegassem, bem... a dizê-lo. Eu precisava tirá-las dali, isso era óbvio, mas como? Poderia chamar a polícia, mas Juan/Antoine tinha me alertado sobre as possíveis consequências disso. Eu deveria simplesmente entrar correndo pela porta da frente? Será que daria certo? Não serviria apenas para irritar Buddy Ray? Voltei a puxar a porta. Ela não queria ceder. – Hihihi – voltou a fazer Rachel. – OK, claro, vamos fazer o teste. Mas antes preciso resolver uma coisa porque estou muito apertadinha. Eu me detive. Muito apertadinha? Foi a mesma reação de um dos sujeitos: – Muito apertadinha? – disse ele. – Hihihi. Apertadinha, aquele probleminha que se resolve no reservado. Você sabe, seu bobo. – Como diz nosso amigo Buck – acrescentou Ema, certamente para que eu pudesse entender –, precisamos fazer xixi. – Ah – disse uma voz masculina. Então outra voz falou: – O camarim fica à esquerda. Melhor aproveitar para vestir um dos, hã, trajes enquanto estiver por lá, Bambi. – Você também, Tawny. Tawny e Bambi. Quanta imaginação. Fiquei esperando diante da porta, sem saber o que fazer. Escutei um pouco mais de movimento, seguido por mais agitação. Torci para que elas conseguissem dar um jeito de ficar sozinhas para poderem falar comigo. Poucos segundos depois, Ema disse: – Mickey? – Onde você está? – falei. – No camarim – respondeu Ema. – De onde, pelo visto, a intenção é sair mais despida do que vestida. Ainda não vimos Candy. Você continua no carro? – Não. Não havia tempo para entrar em detalhes sobre meu encontro com Antoine/Juan. – Estou do lado de fora, no beco, em frente à saída de incêndio – falei. – Pergunte a uma das garotas onde fica e então vamos dar o fora daqui. – OK – disse ela. Escutei uma conversa, então Ema voltou a falar: – Acho que a gente sabe como chegar... Ela se interrompeu. – Alô – chamei. Nada. – Alô? – tentei novamente. Então a voz de Ema voltou à linha: – Acho que encontramos Candy. – Não importa – falei. – Está ficando perigoso demais. Vocês duas precisam sair daí. – Aguente firme – respondeu Ema. – Ah, e volte a colocar seu telefone no mudo. Eu queria fazer mais perguntas, mas ela devia ter um bom motivo para querer que eu deixasse o celular no mudo. Tornei a ouvir vozes, mas não consegui entender nada do que estava sendo dito. Fiquei ali, sozinho no beco, transferindo meu peso com impaciência de um pé para o outro. Tentei pensar em algo para fazer, mas não havia alternativa: teria que esperar, por mais impotente que isso me fizesse sentir. Nem Ema nem Rachel falavam agora. Tudo o que conseguia ouvir eram barulhos de fundo. Não sabia como interpretá-los. E se algo tivesse acontecido? E se elas não pudessem falar? Será que deveria apenas ficar parado ali sem fazer nada por... bem, por quanto tempo? Cinco minutos? Dez? Uma hora? Lembrei-me do rosto de Buddy Ray, do prazer que ele sentiu em me machucar. Pensei no medo nos olhos de Candy quando passamos correndo pela “masmorra”. Como eu podia ter deixado as duas entrarem sozinhas naquele lugar? Passou algum tempo. Não saberia dizer quanto. Podem ter sido 10 minutos, mas provavelmente foram uns dois ou três. E então, quando eu já estava achando que a preocupação me faria enlouquecer, a porta corta-fogo se abriu. Era Ema. – Entre – falou depressa. – Hã? Não. Saia você. Ema se afastou para o lado e eu pude ver Rachel e Candy paradas ali com ela. – Entre – repetiu Ema. Não havia tempo para discutir. De repente eu estava de volta ao quarto azul com almofadas pelo chão. A porta corta-fogo se fechou atrás de mim. Olhei para Ema e para Rachel. Quando ambas sinalizaram que estavam bem, me virei para Candy. Ela me pareceu diferente, mas não consegui identificar o que exatamente tinha mudado. Parecia mais magra, mais cansada, mais pálida. Havia um temor em seu rosto. Seu lábio inferior tremia. – Onde está Ashley? – perguntei a ela. Candy encolheu os ombros sem muita convicção. – Como eu poderia saber? – Você mandou um e-mail para ela. Candy olhou de um lado para o outro. – Hã... não sei do que você está falando. Mas ela sabia, não restava a menor dúvida. – Você mandou um e-mail para ela dizendo que estava em apuros. Foi por isso que ela voltou para cá, não foi? Candy ficou calada. O temor em seu rosto ficou mais evidente. Pousei as mãos em seus ombros e os sacudi. – Me diga onde ela está. Candy começou a soluçar. – Onde está Ashley? – exigi saber, elevando um pouco a voz. – Mickey... – disse Rachel. Eu olhei em sua direção. Ela balançou a cabeça, pedindo que eu parasse. Rachel tinha razão. Eu estava pegando pesado demais. Ema se aproximou, meio que me empurrando para longe da garota. Rachel abraçou Candy e afagou seus cabelos. Sua voz saiu branda e reconfortante: – Você mandou um e-mail para Ashley dizendo que estava em apuros. Candy assentiu. – Que tipo de apuro? Candy balançou a cabeça. – Não queria fazer nenhum mal a ela – disse. Meu coração ficou apertado ao ouvir isso. – Eu sei – falou Rachel com brandura. – Está tudo bem. Apenas nos conte o que aconteceu. – Ashley era minha melhor amiga – disse Candy. Ema olhou para o relógio e depois para mim. Eu sabia o que ela estava pensando. A paciência dos “rapazes” com o “aperto” de Rachel tinha limite. Ema foi até a porta e ficou vigiando. – Você precisa nos contar o que aconteceu, Candy – falou Rachel. A garota fez que sim com a cabeça, afastando-se de Rachel, e secou as lágrimas com a manga da blusa. – Nós sempre dizíamos, Ashley e eu, que sairíamos daqui juntas, sabe? Tínhamos planos. Iríamos fugir para a Califórnia. Deixar isto aqui para trás. Era apenas um sonho. Quero dizer, nós duas sabíamos que Buddy Ray nunca nos deixaria ir embora. Mas... Ela levantou a cabeça para encarar Rachel e seus olhos eram suplicantes. – Ashley escapou. Será que vocês não entendem? Pensei que ela tivesse sido pega por Antoine, mas ela fugiu. E não me levou junto. – Ela deixou você para trás – disse Rachel, tentando soar compreensiva. – Depois de jurar que nunca faria isso – falou Candy, tornando a chorar. – Ele... – prosseguiu ela, apontando o queixo para mim –
...ele me disse que Ashley estava bem, que estava estudando em uma escola de riquinhos. Como Ashley pôde fazer isso comigo? – Então você armou uma cilada para ela – disse eu. Ela me fuzilou com o olhar. – Não tive escolha. Buddy Ray sabia que eu tinha ajudado você. Disse que iria me matar se eu não o ajudasse a trazer Ashley de volta. As lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto. – Como? Como Ashley pôde me abandonar assim? – Ela não fez isso – falei, sem querer entrar em detalhes sobre a verdadeira identidade de Antoine ou sobre o Abrigo Abeona. – Ela foi pega de surpresa. Entrar em contato com você significaria arriscar tudo. – Então Ashley não... – Não, ela não abandonou você. Agora, se você sabe onde ela está... Olhei rapidamente para Ema. Ela continuava parada diante da porta, vigiando. Voltei a encarar Candy. Seu rosto estava desolado. – Está tudo perdido – disse Candy. Um vento frio atravessou meu peito. – O que aconteceu? – Vocês não passam de crianças. Não têm a menor chance contra Buddy Ray. Sabem o que ele é capaz de fazer se souber que conversei com vocês? Com um gesto rápido, Candy puxou a manga de sua blusa para cima. Estreitamos os olhos para ver o que ela estava nos mostrando. A princípio, não entendi o que era. Então Rachel arquejou de espanto. Havia duas queimaduras de cigarro recentes no braço. – Tem mais. Isso é o que dá para mostrar. – Ai, meu Deus – disse Rachel. Senti meu estômago revirar. – E onde ele está com Ashley? Onde? Candy balançou a cabeça. – Diga, por favor – pedi. E então Candy fez algo que realmente me deu arrepios. Ela ergueu a cabeça devagar e olhou para o outro lado da sala. Segui seu olhar e vi que apontava para uma porta. A porta que levava à masmorra. De repente, o som de vozes se aproximou. Ema se virou e sussurrou com rispidez: – Mickey, se esconda! Obedeci imediatamente. Mergulhei atrás de algumas almofadas no chão no instante em que três homens e uma mulher – a dona da voz que eu tinha ouvido ao telefone – fizeram uma curva e entraram no quarto, empurrando Ema para o lado. – Aí está você, Bambi – disse a mulher, que usava um penteado em estilo colmeia e óculos gatinha. – Preparada, querida? Atrás das almofadas, tentei me achatar contra o chão. – Onde você se meteu? – perguntou o homem da voz ríspida. – Hihihi – fez Rachel. – Estava experimentando umas roupas, seu bobo. – Bem, então por que ainda está com as mesmas de antes? – Hã, bem... nada serviu em mim. Troquei de posição atrás das almofadas para poder enxergar melhor. Outro homem entrou no quarto. Ele parou no ato. – Uau – disse, analisando Rachel. – Você não estava brincando quando falou dela. Além de Cabeça de Colmeia, havia quatro homens ali agora. Nenhum deles era Buddy Ray. Então onde ele estava? Pensei em Ashley, no suéter com monograma, nas pérolas e em como tentara fugir daquela vida. Pensei na maneira como olhava para mim, com tanta esperança, e em como, naquele mesmo instante, ela poderia estar atrás daquela porta, na masmorra. Sozinha com Buddy Ray. – OK, está perfeito assim mesmo – disse Cabeça de Colmeia. – Podemos fazer o teste aqui e agora. – Agora? – falou Rachel. – Claro, por que não? Enquanto Cabeça de Colmeia pegava a mão de Rachel, os quatro homens se deixaram cair nas almofadas do chão. O de voz ríspida aterrissou bem perto de onde eu estava escondido. Suas costas ficaram a pouco mais de meio metro da minha cabeça. Prendi a respiração, com medo de me mexer. – Candy, o que você está fazendo aqui? – rosnou o cara perto de mim. – Quem, eu? – respondeu Candy. – Nada. – Então dê o fora, sim? E feche a porta quando sair. – Sim, Max. Agora mesmo. Candy saiu correndo e fechou a porta. – OK, Bambi – falou Cabeça de Colmeia. – Vamos colocá-la naquele palco para você nos mostrar o que sabe fazer. – Agora? – Isso mesmo. Rachel subiu no palco devagar. Então ficou parada lá em cima. – Bambi...? – Eu, hã, geralmente prefiro dançar com música – falou ela. – Podemos cantar se você quiser – disse Max, e havia um quê de irritação em sua voz agora. – Mas já estou ficando bastante impaciente. Pensei em pegar meu celular, mas o menor movimento me revelaria. Tentei me esgueirar lentamente para longe da almofada, me afastar de Max, e depois... E depois o quê? O que poderia fazer? – Posso ir ao banheiro também? – perguntou Ema. Max fez um gesto de “pouco me importa”. Primeiro não entendi o que ela estaria planejando ao deixar Rachel sozinha, mas imaginei que tivesse chegado à mesma conclusão que eu: que estávamos perdidos. Ela iria sair dali e ligar para a emergência. Lembrei- me do aviso de Juan para que não chamássemos a polícia, mas por acaso tínhamos alternativa? Olhei primeiro para a saída de incêndio e depois para a porta que levava à masmorra. – Dance! – gritou Max. E então Rachel começou a dançar. Havia uma barra no palco. Ela a ignorou. Rachel era uma garota linda, estonteante, com um rosto de anjo e um corpo capaz não só de parar os carros no trânsito, mas de fazê-los dar marcha a ré também. Mas era uma péssima dançarina. Ela começou a se mexer como se fosse o primo desajeitado de alguém em um bar mitzvah. Cabeça de Colmeia levou a mão ao peito e grunhiu. Por um instante, os homens se limitaram a olhar para ela com o que parecia ser horror. Então começaram a gritar: – Que droga é essa? – Deus me livre, você chama isso de dançar? – Balance esse traseiro! – Use a barra. – Nossa, que patético. – Peraí, você está fazendo a dança do robô? Eu havia começado a me arrastar bem devagar para longe das almofadas quando Max se empertigou de repente. – Pare um instante – falou ele. Foi como se ele tivesse me percebido. Arrastei o corpo um pouco mais depressa e me encolhi atrás de uma almofada a alguns metros de distância. Max virou a cabeça lentamente na minha direção. Eu já estava fora de vista, debaixo de duas almofadas. Não podia espiar o que estava acontecendo. Não tinha coragem nem de respirar. – Algum problema, Max? – Achei que tivesse ouvido alguma coisa. – O quê? Max se levantou e começou a andar em direção à minha almofada. Os outros caras também se levantaram. Estavam se aproximando de mim. – OK – falou Rachel. – Vou tirar meu top. Isso chamou a atenção deles, que se viraram para ela. Eu avancei novamente, disparando para debaixo das almofadas ao lado da porta da masmorra. Todos os olhares estavam concentrados em Rachel. Ela recomeçou a dançar, fazendo uma imitação lamentável de John Travolta naqueles musicais das antigas. Cabeça de Colmeia voltou a gemer. Foi então que a porta da sala se escancarou de repente. Ema entrou correndo. Candy estava com ela. – Sua piranha! – gritou Ema para Rachel. – Você roubou meu namorado! – Não! – berrou Candy. – Ele era meu! E então Rachel, pescando o que estava acontecendo mais rápido do que eu jamais conseguiria, gritou de volta: – Vai encarar? Pode vir! Ema correu em direção a Rachel, pulou em cima do palco e lhe deu um encontrão. Candy veio em seguida, saltando em cima das duas. Todas começaram a se esgoelar e brigar ao mesmo tempo. Por um instante, Max e os demais não souberam o que fazer. Outras garotas entraram na sala e também partiram para a briga. O grupo rolou pelo chão, bem na direção da saída de incêndio, pela qual eu não tinha dúvida de que Rachel e Ema conseguiriam escapar. Ema, você é genial! Agora ninguém estava prestando atenção às almofadas. Tornei a avançar, mantendo-me agachado e correndo para a porta da masmorra. Forcei a maçaneta. Ela girou. Abri a porta depressa e desapareci na escuridão atrás dela.
...ele me disse que Ashley estava bem, que estava estudando em uma escola de riquinhos. Como Ashley pôde fazer isso comigo? – Então você armou uma cilada para ela – disse eu. Ela me fuzilou com o olhar. – Não tive escolha. Buddy Ray sabia que eu tinha ajudado você. Disse que iria me matar se eu não o ajudasse a trazer Ashley de volta. As lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto. – Como? Como Ashley pôde me abandonar assim? – Ela não fez isso – falei, sem querer entrar em detalhes sobre a verdadeira identidade de Antoine ou sobre o Abrigo Abeona. – Ela foi pega de surpresa. Entrar em contato com você significaria arriscar tudo. – Então Ashley não... – Não, ela não abandonou você. Agora, se você sabe onde ela está... Olhei rapidamente para Ema. Ela continuava parada diante da porta, vigiando. Voltei a encarar Candy. Seu rosto estava desolado. – Está tudo perdido – disse Candy. Um vento frio atravessou meu peito. – O que aconteceu? – Vocês não passam de crianças. Não têm a menor chance contra Buddy Ray. Sabem o que ele é capaz de fazer se souber que conversei com vocês? Com um gesto rápido, Candy puxou a manga de sua blusa para cima. Estreitamos os olhos para ver o que ela estava nos mostrando. A princípio, não entendi o que era. Então Rachel arquejou de espanto. Havia duas queimaduras de cigarro recentes no braço. – Tem mais. Isso é o que dá para mostrar. – Ai, meu Deus – disse Rachel. Senti meu estômago revirar. – E onde ele está com Ashley? Onde? Candy balançou a cabeça. – Diga, por favor – pedi. E então Candy fez algo que realmente me deu arrepios. Ela ergueu a cabeça devagar e olhou para o outro lado da sala. Segui seu olhar e vi que apontava para uma porta. A porta que levava à masmorra. De repente, o som de vozes se aproximou. Ema se virou e sussurrou com rispidez: – Mickey, se esconda! Obedeci imediatamente. Mergulhei atrás de algumas almofadas no chão no instante em que três homens e uma mulher – a dona da voz que eu tinha ouvido ao telefone – fizeram uma curva e entraram no quarto, empurrando Ema para o lado. – Aí está você, Bambi – disse a mulher, que usava um penteado em estilo colmeia e óculos gatinha. – Preparada, querida? Atrás das almofadas, tentei me achatar contra o chão. – Onde você se meteu? – perguntou o homem da voz ríspida. – Hihihi – fez Rachel. – Estava experimentando umas roupas, seu bobo. – Bem, então por que ainda está com as mesmas de antes? – Hã, bem... nada serviu em mim. Troquei de posição atrás das almofadas para poder enxergar melhor. Outro homem entrou no quarto. Ele parou no ato. – Uau – disse, analisando Rachel. – Você não estava brincando quando falou dela. Além de Cabeça de Colmeia, havia quatro homens ali agora. Nenhum deles era Buddy Ray. Então onde ele estava? Pensei em Ashley, no suéter com monograma, nas pérolas e em como tentara fugir daquela vida. Pensei na maneira como olhava para mim, com tanta esperança, e em como, naquele mesmo instante, ela poderia estar atrás daquela porta, na masmorra. Sozinha com Buddy Ray. – OK, está perfeito assim mesmo – disse Cabeça de Colmeia. – Podemos fazer o teste aqui e agora. – Agora? – falou Rachel. – Claro, por que não? Enquanto Cabeça de Colmeia pegava a mão de Rachel, os quatro homens se deixaram cair nas almofadas do chão. O de voz ríspida aterrissou bem perto de onde eu estava escondido. Suas costas ficaram a pouco mais de meio metro da minha cabeça. Prendi a respiração, com medo de me mexer. – Candy, o que você está fazendo aqui? – rosnou o cara perto de mim. – Quem, eu? – respondeu Candy. – Nada. – Então dê o fora, sim? E feche a porta quando sair. – Sim, Max. Agora mesmo. Candy saiu correndo e fechou a porta. – OK, Bambi – falou Cabeça de Colmeia. – Vamos colocá-la naquele palco para você nos mostrar o que sabe fazer. – Agora? – Isso mesmo. Rachel subiu no palco devagar. Então ficou parada lá em cima. – Bambi...? – Eu, hã, geralmente prefiro dançar com música – falou ela. – Podemos cantar se você quiser – disse Max, e havia um quê de irritação em sua voz agora. – Mas já estou ficando bastante impaciente. Pensei em pegar meu celular, mas o menor movimento me revelaria. Tentei me esgueirar lentamente para longe da almofada, me afastar de Max, e depois... E depois o quê? O que poderia fazer? – Posso ir ao banheiro também? – perguntou Ema. Max fez um gesto de “pouco me importa”. Primeiro não entendi o que ela estaria planejando ao deixar Rachel sozinha, mas imaginei que tivesse chegado à mesma conclusão que eu: que estávamos perdidos. Ela iria sair dali e ligar para a emergência. Lembrei- me do aviso de Juan para que não chamássemos a polícia, mas por acaso tínhamos alternativa? Olhei primeiro para a saída de incêndio e depois para a porta que levava à masmorra. – Dance! – gritou Max. E então Rachel começou a dançar. Havia uma barra no palco. Ela a ignorou. Rachel era uma garota linda, estonteante, com um rosto de anjo e um corpo capaz não só de parar os carros no trânsito, mas de fazê-los dar marcha a ré também. Mas era uma péssima dançarina. Ela começou a se mexer como se fosse o primo desajeitado de alguém em um bar mitzvah. Cabeça de Colmeia levou a mão ao peito e grunhiu. Por um instante, os homens se limitaram a olhar para ela com o que parecia ser horror. Então começaram a gritar: – Que droga é essa? – Deus me livre, você chama isso de dançar? – Balance esse traseiro! – Use a barra. – Nossa, que patético. – Peraí, você está fazendo a dança do robô? Eu havia começado a me arrastar bem devagar para longe das almofadas quando Max se empertigou de repente. – Pare um instante – falou ele. Foi como se ele tivesse me percebido. Arrastei o corpo um pouco mais depressa e me encolhi atrás de uma almofada a alguns metros de distância. Max virou a cabeça lentamente na minha direção. Eu já estava fora de vista, debaixo de duas almofadas. Não podia espiar o que estava acontecendo. Não tinha coragem nem de respirar. – Algum problema, Max? – Achei que tivesse ouvido alguma coisa. – O quê? Max se levantou e começou a andar em direção à minha almofada. Os outros caras também se levantaram. Estavam se aproximando de mim. – OK – falou Rachel. – Vou tirar meu top. Isso chamou a atenção deles, que se viraram para ela. Eu avancei novamente, disparando para debaixo das almofadas ao lado da porta da masmorra. Todos os olhares estavam concentrados em Rachel. Ela recomeçou a dançar, fazendo uma imitação lamentável de John Travolta naqueles musicais das antigas. Cabeça de Colmeia voltou a gemer. Foi então que a porta da sala se escancarou de repente. Ema entrou correndo. Candy estava com ela. – Sua piranha! – gritou Ema para Rachel. – Você roubou meu namorado! – Não! – berrou Candy. – Ele era meu! E então Rachel, pescando o que estava acontecendo mais rápido do que eu jamais conseguiria, gritou de volta: – Vai encarar? Pode vir! Ema correu em direção a Rachel, pulou em cima do palco e lhe deu um encontrão. Candy veio em seguida, saltando em cima das duas. Todas começaram a se esgoelar e brigar ao mesmo tempo. Por um instante, Max e os demais não souberam o que fazer. Outras garotas entraram na sala e também partiram para a briga. O grupo rolou pelo chão, bem na direção da saída de incêndio, pela qual eu não tinha dúvida de que Rachel e Ema conseguiriam escapar. Ema, você é genial! Agora ninguém estava prestando atenção às almofadas. Tornei a avançar, mantendo-me agachado e correndo para a porta da masmorra. Forcei a maçaneta. Ela girou. Abri a porta depressa e desapareci na escuridão atrás dela.
Capítulo 25
QUANDO MEUS OLHOS se ajustaram à escuridão, vi uma escada que conduzia para baixo. Ao que tudo indicava, a masmorra ficava no porão. Comecei a descer os degraus. Quando cheguei ao fundo, estaquei. O chão estava coberto de guimbas de cigarro (pensei no braço da pobre Candy e senti um calafrio), mas não foi isso que me fez congelar. Ali, no meio do porão de blocos de concreto, amarrada a uma cadeira, estava Ashley. Ela estava de costas para mim, com os braços amarrados para trás. Eu estava prestes a me aproximar quando ouvi uma voz dizer: – Achei que você tivesse sido sequestrada, Ashley. Recuei para a escuridão da escada, sumindo de vista, e me agachei para espiar. Buddy Ray estava no canto do porão, sentado em um grande baú de ferramentas fechado por um cadeado. Sorriu para Ashley e balançou a cabeça. Não pude deixar de notar que ele estava fumando. E que trazia uma faca na mão. – Mas então descobri que você fugiu de mim – disse Buddy Ray, fingindo-se de magoado. – Como acha que me senti com isso? – Me solte – disse Ashley. – Você fugiu. Agora vai ter que aprender uma lição – falou Buddy Ray com aquela sua voz sinistra. Então ele se levantou e chegou mais perto de Ashley. – Preciso garantir que você nunca, nunca mais vá fugir de mim outra vez. Continuei agachado no escuro, me perguntando o que fazer. Estava longe demais para apanhá-lo de surpresa. Ele tinha uma faca e provavelmente poderia chamar ajuda. – Não vai adiantar nada – disse Ashley com uma voz estranhamente calma. Buddy Ray virou levemente a cabeça. – Não? – Não. Porque, independentemente de quanto você me machuque, independentemente do que faça comigo, eu vou fugir de novo. – E eu vou encontrar você de novo. – E eu vou fugir de novo. Mesmo que você corte minhas pernas com essa faca, eu vou continuar tentando fugir. Aqui não é o meu lugar. Buddy Ray deu uma gargalhada, balançando a cabeça. – Está enganada, minha querida, muito enganada. Ora, você acha que o seu lugar é naquela escolinha feliz, com aquele suéter ridículo, de mãos dadas com o bonitinho do seu novo namorado? Como acha que ele reagiria se soubesse quem você é de verdade? Ashley sentiu esse último golpe. Vi seu corpo se retesar. Eu quis gritar que não tinha importância, que seu passado não me interessava. Buddy Ray abriu os braços. – Aqui é o seu lugar. Ashley ergueu a cabeça e fitou seus olhos. – Não. – Você não entende, não é? – falou Buddy Ray, apontando para o baú de ferramentas atrás dele. – Sabe o que eu tenho nesse baú? – Não importa – disse ela, esforçando-se ao máximo para parecer valente. – Ah, importa sim – zombou Buddy Ray, exibindo a faca em sua mão. – Pode bancar a durona à vontade. Ele chegou mais perto, aproximando a boca do ouvido de Ashley. Contraí meus músculos, me preparando para avançar e tentar... sei lá, qualquer coisa, se ele encostasse um dedo que fosse nela. Em vez disso, Buddy Ray baixou sua voz até sussurrar: – Mas eu prometo, Ashley, juro por tudo o que é sagrado, que depois que abrir aquele baú, depois que acabar, você vai me implorar para que eu a deixe continuar trabalhando aqui. Ele começou a andar em direção ao baú de ferramentas. Minha boca estava tão seca que eu não conseguia engolir. Era agora ou nunca. Ele ficara de costas para mim. Eu estava prestes a avançar, pronto para agir, quando a porta do porão, a mesma por onde eu viera, começou a se abrir. Subi os degraus de volta e saltei para trás dela, me enfiando no único lugar em que podia me esconder. Alguém entrou. – Chefe? Eu não conseguia enxergar nada. A porta estava quase me esmagando. Se a pessoa que a havia aberto a empurrasse mais um pouco, me acertaria bem no meio da cara. – O que foi? – respondeu Buddy Ray com irritação. – Estou ocupado. – Estamos com um problema. Dava para ouvir o tumulto atrás dele. – Derrick não pode resolver? – Ninguém sabe onde ele se meteu. Buddy Ray bufou. – Já volto, princesa – falou ele. Ashley ficou calada. Ouvi seus passos. Ele subiu correndo. Fechei os olhos e torci para que, contra todas as probabilidades, Buddy Ray não me visse. Ele não me viu. Em vez disso, cruzou a porta a passos rápidos, fechando-a com força atrás de si. Então me vi sozinho com Ashley e não estava disposto a ficar parado, avaliando minhas opções. Era bem simples: libertar Ashley e sair dali. Não fazia ideia de quanto tempo Buddy Ray demoraria a voltar. Poderia levar apenas alguns segundos. Desci correndo a escada. Ashley virou a cabeça e arquejou de surpresa quando me viu. – Mickey? – Precisamos tirar você daqui. – Como me encontrou? – Não tenho tempo de explicar agora. Ashley começou a chorar. Corri até sua cadeira, me ajoelhei ao lado dela e comecei a tentar desamarrá-la. Nos filmes, isso leva poucos segundos, não é? Como se alguém amarrasse uma pessoa da mesma forma que amarra um cadarço. Mas na vida real não é assim. Não é assim mesmo.
Buddy Ray não a havia amarrado com uma corda. Ele tinha usado lacres de plástico, que prendiam com firmeza os punhos de Ashley. Eu não sabia o que fazer. Corri os olhos pelo porão, buscando algo para cortá-los, mas não havia nada. – Mickey? – Espere, estou tentando encontrar uma maneira de soltar você. – Não tem como – disse ela, a derrota na voz. Não lhe dei ouvidos. – Torça suas mãos – pedi. Tentei arrancar o plástico com os dedos, puxando-o para baixo enquanto ela contorcia as mãos. Os lacres não cederam nem um milímetro sequer. – Não vai dar tempo – disse Ashley. – Você precisa se salvar. – Não – insisti. – Mickey, ele vai voltar a qualquer momento. Por favor, saia daqui. Ele não vai me machucar muito. Não quer danificar seu produto. Continuei tentando soltar os lacres de plástico. Inútil. Corri até o temível baú de ferramentas. Chutei o cadeado, mas ele se manteve firme. Procurei por um pé de cabra – qualquer coisa! –, mas o porão estava totalmente vazio. Droga! Tentei outro chute. Não tinha a menor chance de arrebentar aquele cadeado. Saquei meu celular. Chega. Estava na hora de correr o risco de ligar para a emergência. – Não! – gritou Ashley. – Se ele vir uma viatura policial, vai começar a matar gente. Não fazia diferença. Não conseguia sinal naquela masmorra de blocos de concreto. E agora? Tique-taque, tique-taque, tique-taque. Quanto tempo mais ele demoraria? – Por favor, Mickey, ouça o que eu digo, OK? Não vai dar tempo. Você precisa sair daqui. Se ele machucar você, se alguma coisa de ruim lhe acontecer, nunca vou conseguir me perdoar. Voltei correndo para junto de Ashley e tomei seu rosto em minhas mãos. Ela me olhou com aqueles olhos lindos, suplicantes. – Não vou deixar você aqui – falei. – Está me ouvindo? Aconteça o que acontecer, não vou deixar você com aquele monstro. Tique-taque, tique-taque, tique-taque. Espere um instante. Os lacres de plástico eram resistentes demais para serem partidos. O cadeado também. Mas, e quanto à cadeira? – Segure-se – falei. – Hã? Dei um chute na perna da cadeira. Nada. Outro chute. A madeira começou a ceder. Um terceiro pontapé. A perna quebrou. Ashley ainda estava presa, mas talvez agora tivesse mais espaço para tentar soltar as mãos. Se conseguíssemos ser rápidos o suficiente... Mas então a porta começou a abrir. Fim de jogo. Eu sabia o que iria acontecer em seguida. Buddy Ray me veria. Estaria armado com sua faca. Chamaria reforços. Max e os outros leões de chácara se juntariam a ele. Não tínhamos a menor chance. Se parasse para calcular as probabilidades, veria que era impossível sobreviver àquela situação. Por isso não parei para fazer cálculos, apenas firmei a cabeça e irrompi na direção da porta. Eu não tinha opção, então apenas corri o mais rápido que pude. Nunca tinha jogado futebol americano, mas costumava assistir aos jogos com meu pai pela tevê sempre que conseguíamos sintonizar a transmissão via satélite. Papai torcia pelo New York Jets – o que, segundo ele, lhe ensinou o significado da palavra decepção. Então, naquele momento, evoquei de dentro de mim o confronto entre os jogadores. Não sabia se iria conseguir chegar a tempo. Duvidava, até, mas fui com tudo. Buddy Ray entrou no porão. Ele se virou, me viu e disse: – Mas o que...? Isso foi tudo o que ele falou. Trombei com ele a toda velocidade. Prendi os braços ao redor do corpo dele, enterrando minha cabeça em seu peito. O impulso nos lançou para trás no quarto azul. Ainda em queda, ergui minha cabeça um pouco, de modo a encaixar o topo dela sob o queixo de Buddy Ray. Quando aterrissamos, minha cabeça se chocou contra seu maxilar. Cheguei a ouvir seus dentes chacoalharem. Minha cabeça ainda estava atordoada por conta da surra que Derrick me dera. Agora, com a dor enorme gerada pelo meu próprio golpe, tive medo de desmaiar. Mas valeu a pena, porque a boca de Buddy Ray estava sangrando. A adrenalina me ajudou a aguentar o tranco. Cerrei um punho e soquei sua boca. Os dentes que já estavam bambos caíram de vez. Puxei o punho para dar outro golpe, mas não tive chance de desferi-lo. Max, o leão de chácara que havia se sentado tão perto de mim antes, se atirou contra mim e acertou meu peito com o joelho. Um clarão me cegou. Foi como se alguém tivesse me apunhalado no pulmão. Ele recuou para dar outra joelhada, o golpe de misericórdia, mas de repente vi alguém bater no meu agressor com o que mais tarde descobri ser a perna de uma cadeira. Ashley! Max desabou como uma árvore cortada. Quase tive vontade de gritar “Madeira!”, mas não havia tempo para isso. Rolei para o lado e tentei me levantar, mas minha cabeça não me acompanhou: me ergui depressa demais e a dor me fez cair de joelhos de volta. Ashley tentou me ajudar. Cambaleei para trás. – Venha, se apoie em mim! – gritou ela. Não queria fazer isso. Queria que ela saísse, que simplesmente cruzasse aquela porta corta-fogo, mas sabia que Ashley não aceitaria, então me apoiei nela. Quando demos o primeiro passo em direção à saída, senti a dor mais forte da minha vida na parte de baixo da perna. Buddy Ray estava me mordendo! Soltei um grito e me desvencilhei, deixando para trás um pedaço da minha pele. Outro leão de chácara apareceu. Depois outro. E então um terceiro. Max se levantou. Os homens rapidamente nos cercaram. Ashley chegou mais perto de mim. Passei o braço em volta de seu corpo, tentando protegê-la. Como se fosse adiantar alguma coisa... Buddy Ray se levantou cambaleante, nos olhou e abriu um sorriso cheio de sangue e dentes quebrados. – Você vai desejar estar morto – disse ele. Eu me encolhi como se tivesse desistido. Mas não tinha. Com a cabeça abaixada, sussurrei no ouvido de Ashley: – Me siga. A adrenalina é uma coisa estranha. Certa vez li que ela permite que mães consigam erguer carros para salvar seus filhos. Não sei se é verdade, mas sei que ela afastou minha dor. Sei que me deu um pouco de energia extra, talvez acrescentasse alguns centímetros à minha impulsão. Sei lá. Corri para cima de Buddy Ray. Ele achou que eu pretendia atacá-lo outra vez, que fosse tentar derrubá-lo no chão, então desviou para o lado. Era exatamente o que eu queria. Passei direto por ele. Ashley estava bem atrás de mim. Sim, aquilo não demoraria muito. Os outros homens já estavam se aproximando. Mas eu não precisava de muito tempo, só de mais dois passos. Só precisava chegar à porta corta-fogo. Consegui abri-la com as costas, agarrei Ashley com um dos braços e lancei-a para fora. Então girei o corpo, tentando empurrar a porta de volta, mas a essa altura os outros homens já haviam chegado e tentavam sair. Fiz força no sentido contrário, mas não conseguiria vencer. De jeito nenhum. Foi então que Ema se juntou a mim. E Rachel. E Candy. Outras garotas também: 10 delas, talvez 15, empurrando a porta. Elas empurraram e seguraram firme, e não houve a menor chance de que alguém conseguisse nos seguir até o lado de fora. – Corram! – gritou Candy para nós. – A gente segura aqui! – Vamos todos correr – falei. – Você também. Mas Candy simplesmente olhou para mim e balançou a cabeça. – Não é assim que funciona, Mickey. – O quê? – Você não pode salvar todas nós. Havia uma estranha verdade naquelas palavras. Pensei em Juan, em como ele havia escolhido salvar Ashley, e não Candy. Mas não havia tempo para isso: precisávamos dar o fora dali. Ouvi sirenes de polícia ao longe. O tumulto devia ter chamado a atenção dos tiras. Eles chegariam a qualquer momento. Algumas garotas fugiram. Meus olhos encontraram os de Rachel. Ela estava com Ashley. Procurei por Ema, mas não a vi. – Vamos todos correr – gritei novamente para as garotas. – Todos ao mesmo tempo. E então uma voz, um cecear terrível, que me causava mais arrepios do que qualquer outra coisa, disse: – Ah, eu acho que não. Tudo parou. Ninguém se moveu. Foi como se até os prédios e o beco tivessem prendido a respiração de repente. Consegui me libertar da paralisia. Larguei a porta e girei a cabeça para a esquerda. Buddy Ray estava ameaçando Ema com uma faca. Meu coração saltou para a garganta. As sirenes se aproximavam. – Solte ela – falei. Buddy Ray sorriu para mim. Se os dentes quebrados ou o sangue o incomodavam, ele não demonstrou. O sorriso não tinha nada por trás dele: nem alegria, nem graça, nem alma. Era o sorriso mais assustador que eu tinha visto na vida. – Os tiras estão chegando – falei. – Eles vão pegar mais leve com você se libertar minha amiga. Buddy Ray deu uma gargalhada. – Quem disse que eu quero que eles peguem mais leve? Eu não sabia o que dizer. Estava longe demais para reagir. Ele colocou a faca no pescoço de Ema. Ela fechou os olhos. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. – Por favor... – ela falou. – Você tomou algo que pertencia a mim – disse Buddy Ray, me encarando firme. – Agora vou tomar algo que pertence a você. – Não – falei. Minha voz soou extremamente fraca, extremamente derrotada. – Se quer se vingar de alguém, que seja de mim. Ergui minhas mãos e comecei a andar na direção dele. – Fique comigo no lugar dela. Arrisquei outro passo. Ainda estava a, no mínimo, 10 metros de distância. Cruzamos olhares, Buddy Ray e eu, e quando isso aconteceu, quando fitei bem dentro dos seus olhos, meu coração se despedaçou. Ema estava condenada. Era impossível negociar. Não havia nada que eu pudesse fazer. Não importava que Buddy Ray estivesse prestes a ser encurralado pela polícia. Por um instante, tudo se resumiu a nós dois – e não restava dúvida do que ele iria fazer. Matar Ema. Ele iria matá-la só para ver meu rosto quando fizesse isso. Não havia como convencê-lo do contrário. Não havia como alcançá-lo a tempo. Ainda há pouco, lá estava eu, prestes a sair dali vitorioso, mas agora ele iria tirar Ema de mim. Era como se Buddy Ray já soubesse de tudo. Eu tinha perdido meu pai. Estava perdendo minha mãe. E quando finalmente havia encontrado uma amiga de verdade, também iria perdê-la. Ele aproximou mais um pouco a faca do pescoço de Ema. Ela se contorceu, mas Buddy Ray a segurou firme. – Diga adeus – falou Buddy Ray. E então, enquanto eu mantinha os olhos nos de Buddy Ray, pensando que já não havia nenhuma esperança... bum, uma caminhonete o atropelou em cheio. Meu queixo caiu. Em um instante Buddy Ray estava parado ali com uma faca na mão. No instante seguinte, estava voando pelo beco no capô de uma caminhonete. A caminhonete me pareceu familiar. Eu já a havia visto antes. A logomarca na lateral mostrava dois esfregões cruzados. Enquanto as sirenes nos cercavam e as viaturas paravam cantando pneus, a porta do motorista se abriu e Colherada saltou. Ele empurrou os óculos para cima, olhou para o homem imóvel no capô e disse: – Caramba, eu preciso mesmo aprender a dirigir. Ema havia telefonado para Colherada quando não conseguiu falar comigo. – Achei que ele poderia pelo menos vir nos buscar – disse ela. Eu lhe dei um longo abraço. Rachel se aproximou e se juntou a nós. Colherada fez o mesmo. As viaturas vinham uma atrás da outra. Vi o pai de Tyrell chegar. Meu tio Myron também estava ali. O Ford Taurus, me lembrei de repente, tinha um GPS. Myron havia conseguido rastrear as coordenadas, só que um pouco tarde demais. Uma ambulância chegou para buscar Buddy Ray. Ele sobreviveria, mas todas as garotas estavam falando com os policiais. Haveria denúncias. Ele passaria muito tempo atrás das grades. Com Rachel à minha direita e Ema à minha esquerda, lancei um olhar pelo quarteirão e vi Ashley ao longe. Ela estava entrando na van de Juan, que segurava a porta. Ashley olhou para trás uma última vez e sorriu. Eu sorri de volta, mas sem nenhuma alegria. Juan meneou a cabeça para mim. Ashley entrou no veículo e, quando fez isso, acho que nós dois percebemos que nunca mais nos veríamos novamente. Pelo menos foi assim que me senti. Olhei para Rachel. Ela assentiu para mim. Ema abriu um sorriso valente. Colherada não soube ao certo o que fazer. Trocamos olhares. Meus amigos, pensei. Os únicos amigos de verdade que havia tido em toda a minha vida. Mas, ainda assim, de alguma forma eu sabia que eles eram muito mais do que isso, que aquela não seria a última vez em que estaríamos juntos daquele jeito. Fui invadido pela emoção. Nós quatro nos juntamos mais um pouco, quase como se quiséssemos proteger uns aos outros, lançando nossos olhares ao longe. – Sabe da maior? – falou Colherada para mim. Eu engoli em seco. – O que, Colherada? – George Washington era estéril.
Capítulo 26
HORAS MAIS TARDE, depois que recebi atendimento por conta da mordida na perna e que a polícia me liberou, meu tio Myron me levou de carro para casa. Eu esperava um interrogatório completo ou um sermão, mas ele pegou leve comigo. De certa forma, parecia estar perdido nos próprios pensamentos. – Você levou uma surra e tanto – disse ele. Eu fiz que sim com a cabeça. Ele agarrou o volante com mais força. – É a primeira vez que machucam você desse jeito? Não sabia bem como responder, então falei a verdade: – É. – Vai estar pior de manhã. Muito pior. Tenho alguns analgésicos que podem ajudar. – Obrigado. Myron fez uma curva sem desviar os olhos da estrada. – Os testes para o time de basquete da escola estão chegando. – Eu sei. Então acabamos saindo em um silêncio desconfortável. Fui eu quem o quebrei desta vez. – Uma noite dessas, vi você conversando com uma mulher pelo computador. Myron pigarreou. – Ah, foi? – Quem é ela? – Minha noiva. Isso me pegou de surpresa. – Ela mora longe – falou ele. – No exterior. – Era para você estar lá com ela. Myron ficou calado. – Mas você ficou aqui – disse eu. – Por minha causa. – Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Mais silêncio. – Posso perguntar outra coisa? – falei. – Diga. – Qual a história entre você e o policial Taylor? Myron sorriu. – Taylor – disse – é um grande idiota. – O filho dele é capitão do time de basquete da escola. – Ele também foi – falou Myron. – Anos atrás. Estava no último ano da escola e eu, no segundo. É, parece que a história realmente se repete. – Então, o que aconteceu entre vocês dois? Myron pareceu remoer a pergunta antes de balançar a cabeça. – Outro dia eu conto. Agora acho melhor cuidarmos um pouco dos seus ferimentos. Myron tinha razão. Quando acordei no dia seguinte, meu corpo inteiro gritava de dor. Levei 10 minutos para me sentar e sair da cama. Minhas têmporas pulsavam. Minha cabeça latejava. Minhas costelas estavam tão doloridas que respirar era uma verdadeira sessão de tortura. Havia dois comprimidos no criado-mudo ao lado da minha cama. Tomei os dois. Eles ajudaram. Myron tinha levado o Ford Taurus reserva à oficina, para consertar a janela que Derrick quebrara. Isso significava que eu teria que sair a pé. Calculei que a polícia ainda estivesse à procura de Derrick. Não seria eu quem lhes diria para não perderem tempo com isso. Algumas horas depois, terminei minha caminhada até o Instituto Coddington de Reabilitação. Christine Shippee me recebeu de braços cruzados. – Eu já falei – disse ela. – Você ainda não pode ver sua mãe. Eu pensei em tudo aquilo. No Abrigo Abeona e no trabalho que meus pais claramente tinham feito lá, na carta de meu pai para Juan e em como ele queria me dar a chance de levar uma vida normal, na nossa volta para os Estados Unidos, na viagem de carro até San Diego e no acidente. Pensei no motorista da ambulância, o cara de cabelos claros e olhos verdes. Na maneira como a expressão em seu rosto me disse que minha vida tinha acabado, em como eu soube, naquele mesmo instante, que até ele, um estranho, conhecia meu futuro melhor do que eu mesmo. Lembrei-me do rosto da minha mãe quando ela recebeu a notícia de que meu pai estava morto, de como ela também havia morrido naquele dia. Pensei em como eu tinha tentado ajudá-la (como “incentivara seu comportamento autodestrutivo”, imagino), em como me tornara sua tábua de salvação, em como minha mãe se agarrou a mim e depois mentiu e até manipulou o próprio filho. Pensei no jantar de espaguete com almôndegas que nunca chegamos a ter. Pensei no pão de alho. – Mickey? – disse Christine. – Você está bem? – Só diga à minha mãe que eu a amo – falei. – Diga que eu estou aqui e sempre estarei, e que virei visitá-la todos os dias e nunca a abandonarei. Diga isso a ela. – Está bem – respondeu Christine com brandura. – Eu vou dizer. E então virei as costas e fui embora. Quando cheguei ao final do caminho de acesso, o carro preto com a placa A30432 esperava por mim. Não fiquei surpreso. O homem careca saiu do banco do carona. Como sempre, usava óculos escuros e terno preto. Ele abriu a porta de trás. Sem dizer uma só palavra, eu entrei.
Capítulo 27
NÃO CHEGUEI A VER O MOTORISTA. Havia uma divisória de vidro separando a parte da frente da traseira. Cinco minutos depois que eles me pegaram, nós estávamos sacolejando pelo bosque. Olhei para fora. Mais adiante, vi a garagem de dona Morcega. Como Ema e eu havíamos testemunhado naquele dia, o careca desceu do carro, abriu a porta da garagem e o veículo estacionou dentro dela. Então o homem abriu a porta para mim e disse: – Siga-me. O interior da garagem parecia, bem... o interior de uma garagem. Nada de especial. O careca se agachou, abriu um alçapão e começou a descer uma escada. Eu o segui. Atravessamos um túnel em direção ao que supus ser a casa de dona Morcega. Isso explicava a luz no porão que eu tinha visto quando estive lá, pensei. Depois que atravessamos uma porta, perguntei: – O que tem aí dentro? Ele sacudiu a cabeça e seguiu em frente. – Só posso vir até aqui – disse, quando chegamos à outra porta. – O que quer dizer com isso? – Que você vai se encontrar com ela sozinho. Ela. O careca começou a voltar em direção à garagem, deixando-me sozinho. Minha cabeça começava a latejar de novo. O efeito dos analgésicos devia estar passando. Abri a porta e me vi novamente na sala de estar de dona Morcega. O cômodo continuava praticamente igual. O marrom ainda predominava na decoração. As janelas ainda estavam tapadas por tábuas e sujeira. O relógio carrilhão continuava parado. A mesma fotografia antiga dos hippies – o primeiro lugar em que eu tinha visto o estranho desenho de borboleta. A vitrola estava funcionando agora. Ouvia-se uma canção triste do HorsePower chamada “O tempo para”. E ali, no meio da sala, usando o mesmo vestido branco em que eu a tinha visto poucos dias atrás, estava dona Morcega. Ela sorriu para mim. – Você se saiu muito bem, Mickey. Eu não estava no clima para enigmas. – Puxa, obrigado. Sério mesmo. Tipo, eu não tenho a menor ideia do que fiz ou do que está acontecendo aqui, mas obrigado. – Sente-se. – Não, obrigado, estou bem assim. – Você está com raiva. Eu entendo. – A senhora disse que meu pai estava vivo. Dona Morcega sentou-se em um sofá que parecia estar pronto para ser jogado no lixo desde os anos 1960. Seu cabelo continuava ridiculamente longo, descendo pelas costas até quase tocar o assento. Ela apanhou um livro grande, um antigo álbum de fotografias, e o apoiou no colo. – E então? – falei. – Sente-se, Mickey. – Meu pai está vivo? – Essa não é uma pergunta simples. – Claro que é. Ou ele está vivo ou está morto. Qual das alternativas é verdadeira? – Ele está vivo – disse ela com um sorriso que não parecia ter nem um pouco de sanidade – em você. Eu nunca tinha sentido vontade de bater em uma idosa, mas vou dizer uma coisa: foi tudo o que eu quis naquele momento. – Em mim? – Isso mesmo. – Ah, faça-me o favor. O que é isso, O rei Leão? Foi isso que a senhora quis dizer quando falou que ele estava vivo? – Eu quis dizer exatamente o que disse. – A senhora falou que meu pai estava vivo. Agora me vem com essa conversa fiada Nova Era de que ele continua vivo em mim. Eu virei as costas, piscando para conter as lágrimas. Estava arrasado e me sentindo um imbecil. Uma velha louca sai falando coisas que eu sei que não são verdade, mas ainda assim eu me agarro às suas palavras como se estivesse me afogando e elas fossem um colete salva-vidas. Fala sério, dá pra ser mais idiota do que isso? – Então ele está morto – falei. – As pessoas morrem, Mickey. – Ótima resposta – disse eu com o máximo de sarcasmo que pude. – Nada do que fazemos é simples – prosseguiu ela. – Você quer um sim ou um não, mas isso não existe. Nada é preto ou branco. Tudo tem tons de cinza. – Existe vida e morte – falei. Ela sorriu. – Como você pode ter tanta certeza disso? Não fazia ideia de como responder. – Nós salvamos aqueles que podemos – disse ela. – Não podemos salvar todos. O mal existe. Não pode haver alto sem baixo, direita sem esquerda... ou bem sem mal. Consegue entender isso? – Não, na verdade não. – Seu pai veio até esta casa quando tinha mais ou menos a sua idade. Essa experiência o transformou, fez com que entendesse sua vocação. – Ou seja, trabalhar para a senhora? – Trabalhar conosco – corrigiu ela. – E se tornar o quê? Parte do Abrigo Abeona? Ela ficou calada. – Então foram vocês que salvaram Ashley. – Não – disse ela. – Foi você. – Será que a senhora pode parar de falar como se estivesse andando em círculos? – disse eu, bufando. – Há um equilíbrio. É preciso fazer escolhas. Nós salvamos alguns, não todos, porque é o máximo que podemos fazer. O mal continua a existir. Sempre. Você pode combatê-lo, mas é impossível derrotá-lo por completo. Você deve se contentar com pequenas vitórias. Se tentar ir longe demais, pode perder tudo. Mas cada vida é importante. Existe um antigo ditado que diz: “Aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro.” Então nós escolhemos. – Vocês escolhem quem é salvo e quem não é? – Sim – admitiu ela. – Veja Candy, por exemplo. Isso me pegou de surpresa. – A senhora sabe sobre Candy? Ela não se deu o trabalho de responder. – Se tivéssemos escolhido ajudá-la, o mais provável é que Candy fosse acabar tão mal quanto antes. Ela não tem nenhuma qualificação, não é muito inteligente e jamais conseguiria se adaptar em uma escola ou na sociedade. No fim das contas, voltaria para Buddy Ray ou alguém parecido. – A senhora não tem como prever isso – falei. – É claro que não. Mas você age de acordo com as probabilidades. Salva quem consegue e lamenta pelos que não pode salvar. Quando segue este caminho, seu coração sofre um pouco a cada dia. Você melhora um pedacinho do mundo, mas não faz uma revolução. Você faz escolhas. Entende o que digo? – Escolhas – repeti. – Sim. – Como quando meu pai escolheu abandonar o Abeona. Quando não quis essa vida para mim. – Exatamente, ele fez uma escolha. Dona Morcega ergueu o olhar para mim e virou a cabeça um pouco de lado. – E o que aconteceu depois? – perguntou. Não falei nada. – Toda escolha gera consequências – falou ela. Eu não sabia o que dizer. Olhei para os fundos da casa, através da janela da cozinha, em direção ao jardim. – A senhora tem uma lápide no seu quintal. Ela ficou calada. – Com as iniciais E. S. – continuei. – É Elizabeth Sobek quem está enterrada ali? – Lizzy – falou dona Morcega. – O quê? – O nome dela era Lizzy. Ela preferia ser chamada assim. – Ela está enterrada no seu quintal? – Sente-se, Mickey. – Estou bem em pé. Lizzy Sobek, a garota que resgatou todas aquelas crianças durante o Holocausto, está ou não está enterrada no seu quintal? – Sente-se, Mickey – repetiu ela, em um tom de voz mais duro. Dona Morcega me encarou e eu obedeci. Subiu poeira do sofá. Ela estendeu o braço esquerdo e puxou a manga de sua blusa para cima. A tatuagem estava apagada, mas ainda dava para lê-la:
A30432
Perdi a voz por alguns instantes. Então consegui dizer: – A senhora? Ela assentiu. – Eu sou Lizzy Sobek. Fiquei sentado ali, em silêncio, enquanto ela abria o álbum de fotografias. – Quero que você saiba como tudo isso começou. Eu vou lhe contar. E então talvez você entenda o que aconteceu com o seu pai. Ela apontou para a primeira foto do álbum. Era um velho retrato em preto e branco de quatro pessoas. – Esta era a minha família. Meu pai se chamava Samuel. Minha mãe, Esther. Este é o meu irmão mais velho, Emmanuel, o de gravata-borboleta. Ele era um rapaz lindo. Muito inteligente e gentil. Tinha 11 anos quando esta fotografia foi tirada. Eu tinha 8. Pareço feliz, você não acha? Parecia, sim. Tinha sido uma criança bonita. – Você sabe o que aconteceu logo em seguida? – A Segunda Guerra Mundial. – Exato. Durante algum tempo, conseguimos sobreviver no gueto de Lodz. Isso foi na Polônia. Meu pai era um homem maravilhoso. Amado por todos. Ele atraía as pessoas. Seu pai, Mickey, era muito parecido com ele. Mas isso não importa agora. Conseguimos fugir e nos manter escondidos por um bom tempo. Não vou entrar em detalhes ou descrever os horrores que ainda hoje, depois de todos esses anos, parecem inacreditáveis até para mim mesma, que os testemunhei. Basta dizer que alguém acabou nos entregando em troca de dinheiro. Minha família foi capturada pelos nazistas. Fomos colocados em um comboio para Auschwitz. Auschwitz. A simples palavra me dava arrepios. Cheguei a estender minha mão para pegar a sua, mas ela se retesou. – Por favor, deixe-me terminar – pediu. – Mesmo depois de todos esses anos, ainda é difícil. – Desculpe. Ela assentiu. Seu olhar se perdeu novamente. – Quando chegamos a Auschwitz, fomos separados. Descobri mais tarde que minha mãe e meu irmão foram levados imediatamente para as câmaras de gás. Poucas horas depois, estavam mortos. Meu pai foi levado para as frentes de trabalho. Eu fui poupada. Nunca soube por quê. Ela virou a página do álbum. Havia mais fotos da família, de Esther e Emmanuel levando vidas que seriam destruídas por motivos que até hoje ninguém conseguia entender. Ela não fitou as fotos. Em vez disso, continuou olhando para a frente. – Também não vou entrar em detalhes sobre como era a vida no campo de concentração – falou ela. – Vou avançar seis semanas até o dia em que meu pai e alguns outros trabalhadores dominaram os guardas. Um grupo de 18 homens se libertou. A notícia se espalhou como um incêndio. Fiquei empolgada, é claro, mas também me senti mais sozinha do que nunca. Tive muito medo. Passei aquela noite em claro, chorando, embora achasse que não tinha mais lágrimas. E aquela reação me deixava envergonhada. Então, enquanto eu chorava sozinha, meu pai veio ao meu encontro. Ele se aproximou da minha tarimba e sussurrou: “Eu nunca deixaria você para trás, minha pombinha.” A lembrança fez dona Morcega sorrir. – Nós fugimos juntos, meu pai e eu, e nos juntamos aos outros homens na floresta. Não saberia descrever a sensação, Mickey. A sensação de estar livre. É como se você tivesse ficado muito tempo debaixo d’água e finalmente conseguisse respirar pela primeira vez depois de voltar à tona. Estar com meu pai, tentar encontrar uma maneira de entrar para a resistência, essa é a minha última lembrança boa. E então... O sorriso desapareceu. Eu esperei, não querendo que ela parasse, mas, ao mesmo tempo, não querendo ouvir o resto da história. Era quase como se alguém tivesse diminuído as luzes. Uma friagem tomou conta da sala. – Então ele nos encontrou. Ela se virou para me encarar. – Quem? – perguntei. – O Carniceiro de Lodz – falou ela com um sussurro ríspido. – Ele era da Waffen-SS, a tropa de elite nazista. Prendi a respiração. – Ele nos encontrou na floresta e nos cercou. Nos fez cavar uma vala e enchê-la de cal. Então nos alinhou na beirada. Ficamos de costas para os seus homens. O Carniceiro olhou para meu pai e depois para mim. Então, soltou uma gargalhada. Meu pai lhe implorou que poupasse minha vida. Ele me encarou por um bom tempo. Nunca vou me esquecer da expressão em seu rosto. Por fim, balançou a cabeça. Lembro-me de que meu pai se virou para trás, segurou minha mão e me disse: “Não tenha medo, minha pombinha.” Então o Carniceiro e seus homens dispararam, fuzilando toda a fileira; mas, no último segundo, meu pai me empurrou para a vala e se moveu um pouco para a direita, para me proteger das balas. Seu cadáver caiu sobre mim. Eu fiquei a noite inteira ali, no frio, com o corpo de meu pai em cima de mim. Não sei quanto tempo se passou. Mas, quando a noite deu lugar ao dia, eu escalei a vala e fugi para a floresta. Ela se interrompeu. Eu esperei, sentindo meu corpo tremer por conta da história. Quando ela não voltou a falar, eu disse: – Então a senhora conseguiu se salvar e foi então que começou a salvar crianças. Ela pareceu exausta de repente. – Outro dia eu explico mais. Silêncio. – Não entendo – falei. Ela se virou para me encarar. – A senhora disse que essa história me daria explicações sobre meu pai. Não vejo como. – Estou tentando fazer com que você entenda. – Entenda o quê? – Meu pai. Ele fez uma escolha. Deu sua vida pela minha. Eu precisava fazer por merecer. Precisava me certificar de que ele tinha tomado a decisão certa. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. – Mas seu pai foi assassinado. O meu morreu em um acidente. Dona Morcega baixou o olhar e, por um instante, achei ter visto a garotinha que um dia ela havia sido. – Quando a guerra terminou, quando o mundo passou a acreditar que eu estava morta, saí em busca do Carniceiro de Lodz. Queria levá-lo à Justiça pelo que ele fez. Entrei em contato com grupos que procuravam ex-nazistas. Não sabia aonde ela queria chegar com isso, mas senti os pelos na minha nuca se eriçarem. – A senhora o encontrou? Seu olhar tornou a ficar distante e ela não respondeu à minha pergunta. – Sabe, às vezes ainda consigo visualizar o rosto dele. Eu o vejo nas ruas ou na minha janela. Ele assombra meus sonhos até hoje, tantos anos depois. Ainda ouço a risada que deu antes de matar meu pai. Mas, acima de tudo... Ela se calou. – Acima de tudo o quê? – perguntei. Ela se virou e me fitou nos olhos. – Acima de tudo, me lembro da maneira como ele me olhou quando meu pai lhe pediu para poupar minha vida. Foi como se ele soubesse. – Soubesse o quê? – Que minha vida, a vida de uma garota chamada Lizzy Sobek, estava acabada. Que eu sobreviveria, porém nunca mais seria a mesma. Então continuei procurando por ele. Por anos, décadas a fio. Finalmente descobri seu verdadeiro nome e uma antiga fotografia sua. Todos os caçadores de nazistas me disseram para relaxar, para não me preocupar e tirar isso da cabeça, porque o Carniceiro tinha sido morto em combate no inverno de 1945. Foi então que aconteceu. Ela virou a página e apontou para a fotografia do Carniceiro em seu uniforme da Waffen-SS. Eu percebi na mesma hora que ele não tinha morrido, que os caçadores de nazistas haviam se enganado. Eu tinha visto aquele homem antes. Ele tinha cabelos loiros e olhos verdes e, na última vez em que o vi, estava levando meu pai em uma ambulância.
Harlan Coben
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















