SÁBADO / Ian Mcewan
SÁBADO / Ian Mcewan
#
#
#
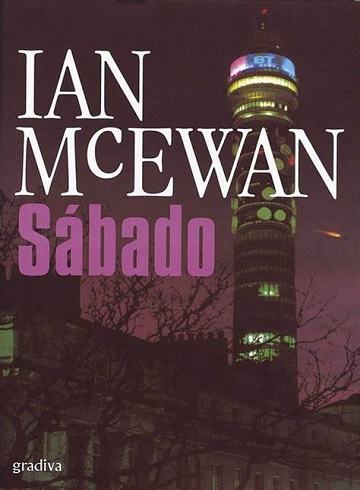
#
#
#
Algumas horas antes do nascer do dia. Henry Perowne, neurocirurgião, acorda e começa imediatamente a mexer-se: senta-se, afasta a roupa e depois põe-se de pé. Não é claro para ele em que momento ficou consciente, nem isso lhe parece relevante. Aquilo nunca lhe acontecera, mas não se sente alarmado nem sequer levemente surpreendido, pois o movimento é fácil, agradável para os seus membros, e sente uma força rara nas costas e nas pernas. Está de pé ao lado da cama, nu - dorme sempre nu -, consciente da sua altura, da respiração paciente da sua mulher e do ar frio do quarto na sua pele. Também essa sensação lhe dá prazer. Na mesa de cabeceira, o relógio mostra que são três e quarenta. Não faz a menor ideia do que está a fazer fora da cama: não precisa de ir à casa de banho, não foi perturbado por nenhum sonho nem por qualquer acontecimento do dia anterior, nem sequer pelo estado do mundo. É como se, ali de pé, na escuridão, se tivesse materializado do nada, inteiramente formado, sem qualquer limitação. Não se sente cansado, apesar da hora e do muito que tem trabalhado ultimamente, nem há qualquer caso recente que lhe perturbe a consciência. Na verdade, está bem desperto, com a cabeça vazia e inusitadamente alegre. Sem que isso corresponda a qualquer decisão ou motivação, começa a dirigir-se para a mais próxima das três janelas do quarto, e a facilidade e leveza com que caminha leva-o mais uma vez a suspeitar que está a dormir ou a ter um ataque de sonambulismo. Se for verdade, ficará desapontado. Os sonhos não lhe interessam; a possibilidade de tudo aquilo ser real é muito mais rica. Além disso, tem a certeza de que está absolutamente consciente e sabe que o sono já ficou para trás: reconhecer a diferença entre estar a dormir e acordado, reconhecer as fronteiras, é a essência da sanidade.
O quarto é grande e espaçoso. Quando o atravessa a deslizar com uma facilidade quase ridícula, a perspectiva de aquela experiência terminar entristece-o por momentos, mas logo a seguir esse pensamento desaparece. Está à janela do meio, abre as portadas de madeira com cuidado para não acordar Rosalind. Com esse gesto está a ser ao mesmo tempo egoísta e solícito. Não quer que ela lhe pergunte o que aconteceu - que poderia responder? Porquê prescindir daquele momento para tentar obter uma resposta? Abre a outra portada, prende-a e abre em silêncio a janela de guilhotina. É bastante maior que ele, mas desliza facilmente para cima, graças ao contrapeso de chumbo escondido algures. A sua pele reage quando ele é envolvido pelo ar de Fevereiro, mas o frio não o perturba. Enfrenta a noite da janela do segundo andar, a cidade sob a sua luz branca e gelada, as árvores como esqueletos na praça e, menos de dez metros abaixo dele, as grades pretas com um remate em forma de seta, como uma fileira de lanças. A temperatura é de um ou dois graus negativos e o ar está límpido. A luz do candeeiro da rua não faz desaparecer todas as estrelas; sobre a fachada do Regency, do outro lado da praça, brilham restos de constelações no lado sul do céu. Aquela fachada é uma reconstrução, um pastiche - o Fitzrovia do tempo da guerra foi atingido pela Luftwaffe -, e por detrás fica a Torre dos Correios, sorumbática durante o dia, mas à noite, meio escondida e decentemente iluminada, um valoroso memorial de tempos mais optimistas.
E hoje, que dias são estes? Os momentos em que mais pensa, confuso e temeroso, são os intervalos da sua ronda semanal. Mas agora não se sente assim. Inclina-se para a frente, apoiando o peso nas palmas das mãos sobre o parapeito da janela e exultando com o despojamento e a clareza da cena. A sua visão - sempre boa - parece ainda mais aguçada. Vê a mica da pedra do passeio cintilar na praça reservada aos peões, excrementos de pombos endurecidos pela distância e pelo frio e transformados em algo quase belo, como pequenos farrapos de neve. Gosta da simetria dos postes de ferro fundido preto, e das suas sombras ainda mais enegrecidas, e do entrançado das tampas das caleiras. O lixo que transvasa dos contentores sugere-lhe abundância e não imundície; os bancos vazios à volta dos jardins circulares parecem-lhe tranquilamente à espera dos seus ocupantes diários - alegres empregados de escritório à hora de almoço, os rapazes da residência indiana, com o seu ar solene e compenetrado, amantes em êxtases silenciosos ou em crise, traficantes de droga crepusculares, a velhota louca com os seus gritos ferozes e assustadores. «Vai-te embora!», grita durante horas a fio, com uma voz rouca que faz lembrar uma ave dos pântanos ou um animal do jardim zoológico.
Imóvel, imune ao frio como uma estátua de mármore, a olhar para Charlotte Street, para a linha confusa das suas múltiplas fachadas, andaimes e telhados empedrados. Henry pensa que a cidade é um sucesso, uma invenção brilhante, uma obra-prima biológica - milhões de pessoas confluem para as sucessivas camadas de realizações ao longo dos séculos, como peixes à volta de um recife de coral, a dormirem, a trabalharem, a divertirem-se, na sua maioria em harmonia, desejando quase todas que tudo corra bem. O próprio canto dos Perownes, um triunfo da congruência de proporções; a praça perfeita concebida por Robert Adam em torno de um círculo perfeito de jardim - um sonho do século xviii inundado pela modernidade, pela luz da rua vinda de cima, e por baixo pelos cabos de fibra óptica, pela água fresca que corre nos canos e pelos detritos levados pelos esgotos num instante de esquecimento.
Observador habitual dos seus estados de espírito, interroga-se sobre a razão daquela euforia estranha e persistente. Talvez tenha havido um acidente químico ao nível molecular enquanto dormia - qualquer coisa como um tabuleiro de bebidas que tombou, levando os receptores dopamínicos a desencadear uma sucessão de eventos intracelulares; ou talvez a perspectiva de um sábado ou uma consequência paradoxal de um cansaço extremo. É verdade que acabou a semana num estado de esgotamento pouco habitual. Quando chegou a casa não havia ninguém. Meteu-se na banheira com um livro, contente por não ter de falar com ninguém. Foi a sua filha Daisy, muito dada às letras, demasiado dada às letras, que lhe mandou a biografia de Darwin, que tem qualquer coisa a ver com um romance de Conrad que quer que ele leia e que ele ainda não começou a ler - as viagens marítimas, por perturbadoras que sejam do ponto de vista moral, não lhe interessam particularmente. Há anos que ela tenta resolver o problema do que considera a espantosa ignorância do pai, orientando a sua educação literária, criticando-o pela falta de gosto e de sensibilidade. Tem uma certa razão - saltou directamente do liceu para a faculdade de Medicina e daí para a vida de escravo de médico estagiário e depois para a imersão total na especialização em neurocirurgia, dividida com o seu empenhamento no papel de pai - com isto, há quinze anos que quase não toca num livro que não seja de Medicina. Por outro lado, já lidou tantas vezes com a morte, o medo, a coragem e o sofrimento que se lhe deparou material suficiente para meia dúzia de literaturas. Apesar de tudo, submete-se às listas de leitura da filha, pois são um meio de se manter em contacto com ela agora que se separou da família em busca da sua maturidade de mulher num subúrbio de Paris; hoje voltará a casa, pela primeira vez em seis meses - outra causa para a sua euforia.
Estava atrasado nos trabalhos passados por Daisy. Controlando de vez em quando mais um jorro de água quente com o dedo grande do pé, leu por alto um texto sobre a impetuosidade com que Darwin escreveu A Origem das Espécies e um resumo das últimas páginas, alteradas em edições posteriores. Ao mesmo tempo ia ouvindo as notícias na rádio. O obstinado Mr Blix estava mais uma vez a discursar nas Nações Unidas - havia uma impressão generalizada de que deitara por terra qualquer justificação de uma guerra. Com a certeza de que nada acrescentara de novo, Perowne desligou o rádio e voltou atrás na leitura. Às vezes aquela biografia provocava nele uma nostalgia reconfortante por uma Inglaterra afectuosa, verdejante, puxada por cavalos. Outras vezes sentia-se ligeiramente deprimido por ver uma vida inteira resumida em algumas centenas de páginas - engarrafada, como chutney feito em casa. E também pela facilidade com que uma existência, ambições, redes de familiares e amigos, tanta coisa acarinhada, podia desaparecer inteiramente. Depois estendeu-se sobre a cama para pensar no jantar, e não se lembrava de mais nada. Rosalind devia tê-lo tapado quando voltou do trabalho. Devia tê-lo beijado. Um homem de quarenta e oito anos, a dormir profundamente às nove e meia da noite numa sexta-feira - é assim a vida profissional moderna. Trabalha muito, toda a gente à sua volta trabalha muito, e aquela semana trabalhara ainda mais por causa de um surto de gripe entre o pessoal do hospital - teve o dobro das cirurgias do costume.
Desdobrando-se e tentando equilibrar as coisas, conseguiu fazer as principais cirurgias numa das salas, supervisionar um assistente noutra sala e fazer ainda intervenções menores numa terceira sala. Actualmente tem dois assistentes de neurocirurgia a trabalhar com ele - Sally Madden, quase inteiramente habilitada e fiável, e Rodney Browne, da Guiana, talentoso, trabalhador, mas ainda inseguro. Jay Strauss, o anestesista que costuma trabalhar com Perowne, também tem um assistente, Gita Syal. Durante três dias, com Rodney a seu lado, Perowne foi transitando entre as três salas - com o som das suas socas no chão polido do corredor e os diversos guinchos e gemidos das portas de vaivém do bloco operatório a fazerem uma espécie de acompanhamento de orquestra. A lista de sexta-feira foi típica. Enquanto Sally suturava um doente, Perowne foi para a sala ao lado aliviar uma senhora de idade da sua nevralgia do trigémeo, o seu tique doloroso. Essas intervenções ainda lhe dão prazer - gosta de ser rápido e preciso. Meteu-lhe o indicador enluvado até ao fundo da boca para sentir a via e depois, quase sem ter de olhar para o intensificador de imagem, enfiou-lhe uma agulha comprida pelo lado de fora da cara até atingir o gânglio do trigémeo. Jay veio da sala ao lado no momento em que Gita acordava momentaneamente a senhora. A estimulação eléctrica da ponta da agulha provocou-lhe uma picada no rosto e, depois de ter confirmado, com ela meio ensonada, que a posição estava correcta - Perowne encontrara-a à primeira -, foi de novo adormecida para o nervo poder ser «cozido» por termocoagulação por radio-frequência. A ideia era eliminar-lhe a dor e ao mesmo tempo deixá-la suficientemente consciente para sentir um ligeiro toque - tudo isto em quinze minutos, que bastavam para acabar três anos de sofrimento, de dor forte e aguda.
Clipou um aneurisma no meio da artéria cerebral - arte em que é um verdadeiro mestre - e fez uma biopsia a um tumor no tálamo, uma região que não é possível operar. O doente era um tenista profissional de vinte e oito anos, que já sofria de perda aguda de memória.
Assim que Perowne tirou a agulha das profundezas do seu cérebro viu que o tecido era anormal. Não tinha muitas esperanças na radioterapia nem na quimioterapia. Recebeu a confirmação verbal do laboratório e à tarde foi dar a notícia aos pais do rapaz.
O caso seguinte foi uma craniotomia por causa de um meningioma numa mulher de cinquenta e três anos, directora de uma escola primária. O tumor estava sobre a zona do cérebro que controla o movimento, perfeitamente definido, sendo facilmente desbravado pelo seu dissector Rhoton, num processo inteiramente curativo. Sally suturou a doente, enquanto Perowne foi à sala ao lado fazer uma laminectomia lombar múltipla num homem obeso de quarenta e quatro anos, um jardineiro que trabalhava em Hyde Park. Teve de cortar dez centímetros de gordura subcutânea para chegar às vértebras, e o homem agitava-se em vão na marquesa sempre que Perowne exercia pressão para cortar o osso.
A pedido de um otorrinolaringologista seu amigo, abriu um canal acústico num rapaz de dezassete anos - é estranho esses especialistas retraírem-se sempre que têm de fazer cortes difíceis. Perowne fez-lhe um corte grande e rectangular, atrás da orelha, o que demorou bastante mais de uma hora e irritou Jay Strauss, que achava que estavam a deixar para trás os seus próprios doentes. Por fim o tumor surgiu sob a lente do microscópio - um pequeno schwannoma vestibular a pouco mais de três milímetros da cóclea. Deixando ao seu amigo especialista a tarefa de realizar a excisão, fora rapidamente fazer outra pequena cirurgia, que o irritou bastante - uma jovem vistosa, sempre com um ar muito ofendido, queria que lhe mudasse o seu estimulador espinal das costas para a parte da frente. Ainda há um mês o tinha mudado para a posição inversa, por ela se queixar de que a incomodava muito quando se sentava. Agora dizia que o estimulador a impossibilitava de se deitar. Fez-lhe uma longa incisão no abdómen e perdeu um tempo precioso, além de ter sido obrigado a enfiar os braços quase até aos cotovelos dentro dela à procura do fio da bateria. Tinha a certeza que a doente voltaria dentro de pouco tempo.
Ao almoço comeu uma sanduíche de atum com pepino e bebeu uma garrafa de água mineral. No café apinhado, onde o cheiro a torradas e a massas feitas no microndas lhe faz sempre lembrar os cheiros das grandes cirurgias, sentou-se ao lado de Heather, a empregada cockney, muito acarinhada, que limpa as salas nos intervalos das cirurgias. Contou-lhe que o genro tinha sido preso e acusado de assalto à mão armada, depois de ter sido identificado por engano na polícia. Mas tinha um álibi perfeito - na altura do crime estava no dentista a arrancar um dente do siso. Noutra parte da sala falava-se da epidemia de gripe - uma das enfermeiras e uma assistente de Jay tinham sido obrigadas a ir para casa nessa manhã. Passados quinze minutos Perowne voltou ao trabalho. Enquanto na sala ao lado Sally abria um orifício no crânio de um homem de idade, um polícia de trânsito reformado, para aliviar a pressão de uma hemorragia interna proveniente de um hematoma subdural crónico, Perowne recorreu ao equipamento mais recente do bloco operatório, um sistema de imagem computorizada, para fazer uma craniotomia para ressecção de um glioma frontal posterior direito. Depois deixou que fosse Rodney a fazer outro orifício para um subdural crónico.
O ponto alto da lista do dia foi a remoção de um astrocitoma poliquístico a uma nigeriana de catorze anos que vivia em Brixton com a tia e o tio, vigário da Igreja Anglicana. A melhor forma de chegar ao tumor era pela parte de trás da cabeça, por uma via infratentorial supracerebelar, com a doente anestesiada e sentada, o que punha alguns problemas especiais a Jay Strauss, pois havia a possibilidade de o ar entrar por uma veia e causar uma embolia. Andrea Chapman era uma doente problemática e uma sobrinha problemática.
Viera para Inglaterra com doze anos - os tios, consternados, mostraram uma fotografia a Perowne, onde se via uma rapariga enfezada com um vestido, uns laços apertados e um sorriso tímido. Tudo o que a sua vida numa aldeia rural do Norte da Nigéria tivesse deixado preso dentro dela fora libertado mal entrara para a escola preparatória de Brixton. Passou a gostar da música, da maneira de vestir, da maneira de falar, dos valores - da rua. O vigário achava que ela era descontraída, enquanto a sua mulher tentava vigiar Andrea. A sobrinha drogava-se, embebedava-se, roubava nas lojas, faltava à escola, odiava a autoridade e «praguejava como um marinheiro». Seria o tumor que estava a pressionar-Lhe alguma zona do cérebro?
Perowne não pôde reconfortá-los com essa confirmação. O tumor estava distante dos lobos frontais. Estava na parte superior do cerebelo. Ela já tinha tido cefaleias matinais, cegueira momentânea e ataxia, sintomas que não conseguiram afastar as suas suspeitas de que a situação em que se encontrava fazia parte de uma conspiração - o hospital, em conluio com os seus tutores, a escola, a polícia - para a impedir de passar a noite em discotecas. Poucas horas depois de ter sido internada já entrara em conflito com as enfermeiras, a irmã responsável pela enfermaria e uma doente de idade que disse que não admitia aquela linguagem obscena. Perowne também teve dificuldade em convencê-la a aceitar as provações que se avizinhavam. Mesmo quando estava mais calma parecia falar como uma rapper na MTV, abanando a parte de cima do corpo quando estava sentada na cama, fazendo movimentos circulares com as palmas das mãos voltadas para baixo, como se estivesse a preparar o ar à sua volta para mais uma das suas tempestades. Mas Perowne admirava a sua coragem, os seus olhos escuros intensos, os seus dentes perfeitos e sua língua rosada a fustigar as palavras que formava. Sorria alegremente, mesmo quando gritava aparentemente em fúria, como se se divertisse a ver até onde podia ir sem que nada lhe acontecesse. Foi preciso Jay Strauss, um americano com um calor e uma franqueza que mais ninguém tinha naquele hospital inglês, para a pôr na linha.
A operação de Andrea demorou cinco horas e correu bem. Sentaram-na com a cabeça presa a uma estrutura à sua frente. Abrir a parte de trás da cabeça é um processo que requer grande cuidado, pois os vasos sanguíneos estão muito perto do osso. Rodney debruçou-se ao lado de Perowne para ir irrigando a broca e cauterizando a hemorragia com electrocoagulação bipolar. Por fim chegaram ao tentório - uma estrutura delicada, de uma cor pálida, extremamente bela, como o pequeno remoinho de uma dança dos véus, onde a dura-máter se une e torna a separar. Por baixo fica o cerebelo. Com incisões cuidadosas, Perowne permitiu que fosse a força da gravidade a puxar o cerebelo para baixo - sem necessidade de rectractores - e assim viram mais fundo, até à região da glândula pineal, à frente da qual se encontrava a vasta massa vermelha do tumor. O astrocitoma estava bem delimitado e só tinha infiltrado parcialmente os tecidos circundantes. Perowne conseguiu retirá-lo quase todo sem afectar qualquer região importante.
Deixou Rodney utilizar o microscópio e o aspirador durante vários minutos e também suturar a doente. Foi o próprio Perowne que lhe ligou a cabeça e quando saiu do bloco não se sentia nada cansado. Operar nunca o cansava - quando está ocupado no mundo fechado do bloco operatório e das intervenções que tem de realizar e absorvido pela proximidade da imagem do microscópio enquanto segue por um corredor que o levará ao sítio que pretende, sente-se dotado de uma capacidade sobre-humana e de um forte desejo de trabalhar.
Quanto ao resto da semana, as duas manhãs de consultas não foram mais exigentes que o habitual. É demasiado experiente para se deixar afectar pelos vários tipos de angústia com que é confrontado - a sua obrigação é ser útil. As rondas pelas enfermarias e as reuniões semanais também não o cansaram. Foi a burocracia da tarde de sexta-feira que o deixou em baixo, os registos dos doentes que tinham sido encaminhados para si e dos doentes que encaminhou para outros médicos, trabalhos para apresentar em duas conferências, cartas para colegas e editores, uma recensão crítica inacabada, sugestões para iniciativas de gestão, alterações à estrutura da Fundação e a revisão de alguns exercícios práticos. É preciso verificar de novo o plano de emergência do hospital. Um simples choque de comboios já deixou de ser o pior que há a temer. Hoje em dia, palavras como «catástrofe», «grande número de vítimas», «guerra química e biológica» e «ataque em massa» tornaram-se quase inócuas à força de serem repetidas. O ano anterior assistira ao aparecimento de novas comissões e subcomissões e de cadeias de comando que se estendiam para lá do hospital, para lá das hierarquias médicas, até zonas remotas da administração pública e do Ministério da Administração Interna.
Perowne ia ditando com uma voz monótona e muito depois de a secretária ter ido para casa ainda ele estava a escrever ao computador no meio do calor insuportável do seu gabinete no terceiro andar do hospital. A sua única limitação era uma falta de fluência que não era habitual. Orgulhava-se do seu estilo rápido, elegante e rebuscado. Nunca precisava de pensar muito - escrevia e compunha ao mesmo tempo. Mas naquele dia estava hesitante. Embora não tivesse esquecido o jargão profissional - era uma segunda natureza para ele -, a sua prosa ia-se acumulando de forma desajeitada. Algumas palavras traziam-Lhe à mente objectos desajustados - bicicletas, cadeiras de bordo, cabides - que lhe dificultavam o caminho. Compunha mentalmente uma frase, depois perdia-a na página ou criava um beco sem saída gramatical que só conseguia transpor à custa de muito suor. Não parou para pensar se aquela debilidade seria uma causa ou uma consequência do seu cansaço. Às oito da noite terminou a última de uma série de mensagens de correio electrónico e levantou-se da secretária sobre a qual se encontrava debruçado desde as quatro da tarde. Antes de sair foi ver os seus doentes que estavam nos cuidados intensivos. Não havia nenhum problema e Andrea estava bem - estava a dormir e todos os sinais eram bons. Menos de meia hora depois já estava em casa, na banheira, e pouco depois também ele estava a dormir.
Há grandiosidade nesta visão da vida. Acorda, ou acha que acorda, ao som do secador de cabelo de Rosalind e de uma voz que murmura repetidamente uma frase. Mais tarde, depois de adormecer outra vez, ouve o ruído surdo da porta do roupeiro a abrir-se, do enorme roupeiro metido na parede, um dos dois da casa, com luzes automáticas e um interior complexo de folheado lacado e recantos fundos e perfumados; mais tarde ainda, enquanto ela atravessa o quarto de um lado para o outro, descalça, ouve o murmúrio sedoso da sua combinação, de certeza a preta com desenhos de túlipas que ele lhe trouxe de Milão; depois a pancada leve dos saltos das botas no chão de mármore da casa de banho, quando faz os preparativos finais em frente do espelho, pondo perfume e escovando o cabelo. E durante todo esse tempo o rádio de plástico em forma de golfinho azul, preso por ventosas aos azulejos do fundo da banheira, repete a mesma frase, até que Henry começa a detectar um sentido religioso, à medida que o seu significado se vai intensificando - há grandiosidade nesta visão da vida, repete uma e outra vez.
Há grandiosidade nesta visão da vida. Quando acorda verdadeiramente, duas horas mais tarde, Rosalind já saiu e o quarto está em silêncio. Há uma coluna estreita de luz na direcção de uma portada aberta. O dia parece-lhe intensamente branco.
Afasta a roupa e fica deitado de costas no lado dela, nu por entre o calor do aquecimento central, à espera de conseguir localizar a frase. Darwin, claro, da leitura da noite anterior na banheira, no último parágrafo da sua grande obra, que Perowne de facto nunca leu. O bondoso e determinado Charles, enfermo, com toda a sua humildade, a convocar as minhocas e os ciclos planetários para o ajudarem numa vénia de despedida. Para suavizar a mensagem, também convocou o Criador, mas o seu coração não estava nesse chamamento, e ele abandonou-O em edições posteriores. Aquelas quinhentas páginas mereciam uma única conclusão: um número interminável de belas formas de vida, como as que se vêem em qualquer sebe comum, incluindo seres superiores como nós próprios, surgiram de leis da física, da guerra da natureza, da fome e da morte. É esta a grandiosidade. E uma consolação estimulante no breve privilégio da consciência.
Uma vez, quando passeavam junto a um rio -o Eskdale, sob a luz avermelhada de um Sol já baixo e sobre uma camada fina de neve-, a filha citara-lhe um verso que abria um dos poemas do seu poeta preferido. Aparentemente, não havia muitas jovens que gostassem tanto de Philip Larkin como ela. «Se fosse chamado/ A construir uma religião/ Recorreria à água.» Disse que gostava particularmente daquele lacónico «fosse chamado» - como se ele pudesse ser, como se alguém fosse. Pararam para beber café de um termo, e Perowne, abrindo uma linha por entre os líquenes com um dedo, disse que, se alguma vez fosse chamado, recorreria à evolução. Haveria melhor mito da criação? Um período inimaginável, inúmeras gerações a criar por passos infinitesimais seres vivos belíssimos e complexos a partir de matéria inerte, impelidas pela fúria cega da mutação aleatória, da selecção natural e das alterações ambientais, com a tragédia das formas permanentemente a morrerem e, por fim, com a maravilha do aparecimento das mentes e, com elas, da moral, do amor, da arte, das cidades - e o bónus nunca visto desta história que por acaso pode demonstrar-se ser verdadeira.
No fim desta récita, não inteiramente jocosa - estavam sobre uma ponte de pedra no ponto de união de dois cursos de água -, Daisy deu uma gargalhada e pousou a chávena para aplaudir.
- Isso é religião da mais antiga e genuína, quando dizes que por acaso pode demonstrar-se ser verdadeira.
Tem sentido a falta de Daisy nos últimos meses, mas ela está prestes a chegar. Surpreendentemente, tendo em atenção que é sábado, Theo prometeu ficar em casa à noite, pelo menos até às onze horas. Está a pensar fazer sopa de peixe. A ida à peixaria é uma das tarefas mais fáceis que tem pela frente: peixe-anjo, amêijoas, mexilhão, camarões descascados. É esta lista prática, aqueles produtos salgados, que o faz sair finalmente da cama e dirigir-se à casa de banho. É uma imagem vergonhosa para um homem sentar-se a urinar, porque as mulheres é que o fazem. Calma! Senta-se, sentindo os últimos farrapos de sono dissolverem-se à medida que a urina vai caindo sobre as paredes da sanita. Tenta localizar outra fonte de vergonha, ou de culpa, ou de algo mais suave, como a recordação de um momento embaraçoso ou de uma patetice. Ainda há poucos minutos lhe passou pela mente qualquer coisa do género, e agora só lhe resta a sensação, mas sem a base racional. Uma sensação de ter agido ou falado de uma forma risível. Ou de ter sido idiota. Como não consegue lembrar-se, também não consegue convencer-se a pensar noutra coisa. Mas que interessa isso? São finas camadas de sono que ainda estão a torná-lo lento - imagina-as parecidas com a aracnóide, o tecido muito fino que envolve o cérebro e que ele costuma cortar. A grandiosidade. A frase deve ter sido uma alucinação provocada pelo zumbido do secador; deve tê-la confundido com o noticiário na telefonia. É o luxo de estar meio adormecido, a explorar as franjas da psicose em segurança. Mas quando sentiu o ar ao dirigir-se para a janela na noite anterior estava completamente acordado. Ainda está mais certo disso agora.
Levanta-se e puxa o autoclismo. Pelo menos uma molécula dos seus dejectos cairá em cima dele um dia, sob a forma de chuva, de acordo com um artigo ridículo que leu numa revista que estava na sala do café do bloco operatório. É o que dizem os números, mas as probabilidades estatísticas não são o mesmo que verdades. Havemos de voltar a encontrar-nos, só não sei onde, nem quando. Trauteando aquela canção do tempo da guerra, atravessou o chão de mármore verde e branco até ao lavatório para fazer a barba. Sente-se incompleto sem aquele ritual matinal, mesmo num dia de folga. Devia aprender com Theo a deixar andar. Mas Henry gosta da taça de madeira, do pincel de pêlos de esquilo, da extravagância que é a gilete descartável de três lâminas, com uma pega inteligentemente arqueada e não completamente lisa, verde-escura. Passar aquela pérola industrial sobre uma carne que lhe é familiar aguça-lhe as ideias. Devia consultar o que William James escreveu sobre esquecer uma palavra ou um nome, deixando uma forma vazia, atormentadora, que quase define a ideia que outrora conteve, sem contudo o fazer. Mesmo no momento em que estamos a debater-nos com o torpor de uma memória fraca, sabemos exactamente o que a coisa de que nos esquecemos não é. James teve o dom de fixar os lugares-comuns mais surpreendentes - e, na humilde opinião de Perowne, escreveu uma prosa muito melhor que o seu atabalhoado irmão, que preferia dar doze voltas diferentes a uma coisa a chamá-la pelo nome. Daisy, o árbitro da sua educação literária, nunca concordaria. Ainda no liceu, escrevera um longo ensaio sobre os últimos romances de Henry James e sabia até de cor um passo de The Golden Bowl. Também sabe de cor dezenas de poemas que aprendeu no início da adolescência - um meio de ganhar uns trocos do avô.
A sua formação foi tão diferente da do pai... Não admira que gostem tanto das suas discussões. Daisy sabe tanta coisa! Por sugestão dela, tentou ler aquele sobre a menina que sofre com o terrível divórcio dos pais. Um tema promissor, mas a pobre Maisie desapareceu rapidamente por detrás de uma nuvem de palavras e, na página quarenta e oito, Perowne, que consegue estar de pé sete horas seguidas a fazer uma operação difícil e que se inscreveu na maratona de Londres, adormeceu, exausto. Até a história da homónima da sua filha o deixou confuso. O que é que um adulto pode concluir ou sentir sobre o previsível declínio de Daisy Miller? Que o mundo pode ser cruel? Não chega. Debruça-se para tornar a enxaguar a cara. Talvez esteja a ficar parecido com Darwin, pelo menos neste aspecto, pois nos últimos anos da sua vida considerou Shakespeare maçador até à náusea. Perowne está a contar com Daisy para refinar a sua sensibilidade.
Finalmente acordado por completo, volta ao quarto, subitamente impaciente por se vestir e se ver livre dos vários entraves do quarto, do sono, da insónia, dos pensamentos arrebatados, até do sexo. A cama desfeita, com o seu ar decadente, pornográfico, contém todos estes elementos. A ausência de desejo clarifica a mente. Ainda nu, endireita rapidamente a roupa, apanha algumas almofadas do chão e atira-as para junto da cabeceira e dirige-se depois ao quarto de vestir, ao canto onde está guardada a sua roupa de desporto. São os pequenos prazeres do início de uma manhã de sábado - a promessa de um café e o desbotado equipamento de squash. Daisy, que se veste muito bem, diz com ternura que é o seu fato de espantalho. Os calções azuis têm manchas brancas deixadas pelo suor, que já não saem. Por cima de uma t-shirt cinzenta veste uma velha camisola de caxemira com buracos da traça de um lado ao outro. Por cima dos calções usa umas calças de fato de treino apertadas na cintura com uma corda de merceeiro.
As meias brancas de turco já a picar com uma risca amarela e outra cor-de-rosa têm qualquer coisa de roupa de creche. Ao abri-las sente o perfume agradável da roupa lavada. Os ténis de squash têm um cheiro intenso, uma mistura de pele sintética e de pele de animal, que lhe faz lembrar o court, as paredes brancas imaculadas e as linhas vermelhas, as regras indiscutíveis do combate de gladiadores, e o resultado.
É inútil fingir que o resultado não interessa. Na semana passada foi Jay Strauss quem ganhou, mas, ao atravessar o quarto com um passo almofadado e saltitante, Henry sente que hoje vai ser ele a ganhar. Lembra-se de ter feito aquele mesmo trajecto de noite e, ao abrir as mesmas portadas, quase recupera a sua loucura, já meio perdida na sua memória, mas que é instantaneamente dissipada pelo jorro de luz do Sol baixo de Inverno que entra no quarto e pelo seu súbito interesse pelo que está a acontecer na praça.
À primeira vista parecem duas raparigas à beira dos vinte anos, magras e de rostos pálidos e delicados, pouco vestidas para Fevereiro. Podiam ser irmãs, encostadas às grades do jardim central, indiferentes a quem passa, entregues ao seu próprio drama familiar. Depois Perowne conclui que a figura que está de frente para ele é de um rapaz. É difícil dizer porque tem um capacete de bicicleta debaixo do qual sai uma farta cabeleira castanha encaracolada. Perowne fica convencido pela postura, pela forma como os seus pés estão afastados, pela espessura do pulso quando pousa a mão no ombro da rapariga. Ela sacode os ombros para que ele tire a mão. Está agitada e a chorar, e os seus movimentos são incertos - levanta as mãos para tapar a cara, mas, quando o rapaz se aproxima para a puxar para ele, começa a bater-lhe em vão no peito, como uma heroína de um filme antigo de Hollywood. Volta-lhe as costas, mas não se vai embora. Perowne julga ver na cara dela resquícios do delicado rosto oval da sua filha, o nariz pequenino e o queixo de gnomo. Depois de fazer esta ligação começa a observar mais atentamente. Quer o rapaz, mas odeia-o. O olhar dele é selvagem, acicatado pela fome. Será dirigido a ela? Não a deixa ir-se embora e está sempre a falar, a aliciá-la, a convencê-la com carícias, a tentar acalmá-la. Ela tacteia repetidamente as costas para meter a mão debaixo da t-shirt e coçar-se com força. Fá-lo compulsivamente, mesmo quando está a chorar e a afastar o rapaz com alguma indiferença. Formigueiro causado pelas anfetaminas - formigas imaginárias que rastejam pelas suas artérias e veias, uma comichão que não pode ser vencida. Ou então uma reacção histamínica exógena induzida pelos opiáceos, frequente entre os novos consumidores. A palidez e a exuberância emocional são reveladoras. São toxicodependentes, de certeza absoluta. Será afinal uma compra falhada e não um problema familiar que está por detrás da angústia dela e das tentativas vãs do rapaz de a reconfortar.
As pessoas vêm muitas vezes à praça dar largas aos seus dramas. É óbvio que uma rua não chega. As paixões precisam de espaço, da vastidão atenta de um teatro. A outra escala, pensa Perowne, arrastado agora pela luz do Sol e por um novo dia para a sua preocupação habitual, talvez seja esta a atracção do deserto iraquiano - a paisagem plana e supostamente vazia na qual é possível dar largas a uma fúria de proporções gigantescas. Dizem que um deserto é o sonho de um estratego militar. A praça de uma cidade é o equivalente numa dimensão privada. No domingo anterior um rapaz passou duas horas a andar de um lado para o outro da praça, a gritar ao telemóvel, com a voz a definhar de cada vez que seguia em direcção a sul e a subir de intensidade, na escuridão do fim da tarde, quando ia em sentido contrário. Na manhã seguinte, quando ia para o trabalho, Perowne viu uma mulher arrancar o telemóvel ao marido e desfazê-lo no passeio. No mesmo mês, houve um indivíduo de fato escuro de joelhos, de chapéu de chuva ao seu lado, aparentemente com a cabeça presa nas grades do jardim, mas na realidade agarrado a elas a soluçar. A velha com a garrafa de uísque nunca conseguiria nada com os seus gritos e guinchos na estreiteza de uma rua, nem que o fizesse durante três horas a fio. O aspecto público da rua garante privacidade a estes dramas íntimos. Há casais que vão para ali conversar ou chorar baixinho, sentados nos bancos. Emergindo de pequenos quartos em casas da câmara ou de estreitas ruelas para uma visão mais ampla do generoso céu e dos enormes plátanos, para uma visão de espaço e crescimento, as pessoas lembram-se das suas necessidades essenciais e de que continuam por satisfazer.
Mas também há ali muita felicidade. Perowne pode vê-la neste preciso instante, do outro lado da praça, junto à pensão indiana, quando vai abrir as outras portadas e o quarto é inundado de luz. Reina uma enorme excitação desse lado da praça. Dois jovens asiáticos de fato de treino, que ele reconhece do quiosque de Warren Street, estão a descarregar uma carrinha para um carro de mão que está no passeio, sobre o qual se encontra já uma enorme pilha de painéis, faixas dobradas, cartões com pins, apitos, cornetas, chapéus cómicos e máscaras de borracha de políticos - Bush e Blair em montes instáveis, com as caras ao de cima voltadas para o céu com um olhar vazio e com uma cor branca espectral dada pela luz do Sol. Gower Street, a alguns metros para leste, é um dos sítios de onde partirá a manifestação, e o movimento já chega ali. Há uma pequena multidão à volta do carro de mão a querer comprar coisas antes de os vendedores estarem preparados. Perowne não consegue compreender toda aquela alegria. Há famílias inteiras, uma com quatro filhos, com casacos vermelhos de vários tamanhos, aos quais foram visivelmente dadas instruções para se manterem de mãos dadas; e estudantes, e um autocarro cheio de senhoras grisalhas de impermeáveis de xadrez e sapatos resistentes.
Talvez do Instituto das Mulheres. Um dos homens de fato de treino levanta as mãos, fingindo render-se, enquanto o amigo faz a primeira venda, de pé na parte de trás da carrinha. Expulsos pela agitação, os pombos da praça levantam voo, dão várias voltas e mergulham em formação. À espera deles cá em baixo, sentado num banco ao lado de um caixote do lixo, está um homem a tremer, de rosto vermelho, embrulhado num cobertor cinzento, com uma fatia de pão pronta para eles no colo. Para os filhos de Perowne, «dar de comer aos pombos» é sinónimo de ser deficiente mental. Por detrás da multidão que rodeia o carro de mão está um grupo de jovens, de blusões de cabedal e cabelo rapado, a presenciar a cena com um sorriso tolerante. Já desenrolaram a sua faixa, que proclama simplesmente «Queremos paz e não slogans!»
A cena faz pensar na inocência e na excentricidade inglesa. Perowne, vestido para o combate no court, imagina-se como Saddam, a supervisionar a multidão com satisfação da varanda de um qualquer ministério de Bagdade: os bondosos eleitorados das democracias ocidentais nunca autorizarão os seus governos a atacarem o seu país. Mas está enganado. A única coisa que Perowne acha que sabe sobre esta guerra é que vai acontecer. Com ou sem as Nações Unidas. As tropas já estão no terreno, vão ter de combater. Desde que tratou um professor de história antiga iraquiano de um aneurisma e viu as cicatrizes das torturas de que fora vítima e ouviu as suas histórias, Perowne ficou com ideias ambivalentes ou confusas e volúveis em relação à invasão. Miri Taleb tem quase setenta anos, é um homem de pequena estatura, quase feminina, e com um riso nervoso, uma risadinha plangente que pode ter alguma coisa a ver com o tempo que passou na prisão. Fez o doutoramento no University College de Londres e o seu inglês é excelente. A sua área é a civilização suméria, e durante mais de vinte anos deu aulas na Universidade de Bagdade e participou em diversas escavações arqueológicas na zona do Eufrates. Foi preso em 1994, numa tarde de Inverno, à porta da sala em que ia dar aulas. Os alunos estavam à espera dele lá dentro e não viram o que aconteceu. Três homens aproximaram-se dele, mostraram-lhe os crachás da segurança e pediram-Lhe que os acompanhasse ao carro. Aí chegados, algemaram-no, e foi nesse momento que começou a ser torturado. As algemas estavam tão apertadas que durante dezasseis horas, até lhas tirarem, não conseguiu pensar em mais nada senão na dor que sentia. Ficou com lesões permanentes nos dois ombros. Nos dez meses seguintes foi transferido de prisão para prisão no centro do Iraque. Não fazia a menor ideia do que significavam aquelas mudanças e não tinha qualquer hipótese de avisar a mulher de que ainda estava vivo. Nem mesmo no dia em que foi libertado conseguiu descobrir de que era acusado.
Perowne ouviu a história do professor no seu consultório e falou com ele mais tarde, na enfermaria, depois da operação - que felizmente foi um sucesso. Taleb tinha um aspecto pouco comum para um homem quase com setenta anos - uma pele suave como a de um bebé, umas pestanas enormes e um bigode preto muito cuidado, de certeza pintado. No Iraque não tinha qualquer envolvimento nem interesse na política e recusou aderir ao Partido Baas. Pode ter sido essa a causa dos seus problemas. Também pode ter sido o facto de um dos primos da sua mulher, morto há muito, ter pertencido ao Partido Comunista ou de um outro primo ter recebido uma carta do Irão, de um amigo que estava lá exilado por supostamente ser de ascendência iraniana; ou ainda por o marido de uma sobrinha se ter recusado a voltar ao Iraque quando foi dar aulas para o Canadá. Outra razão possível era o professor ter ido à Turquia como consultor de uma escavação arqueológica. Não ficou particularmente surpreendido por ter sido preso, e a sua mulher também não deve ter ficado. Ambos conheciam, toda a gente conhecia, alguém que fora preso, torturado e depois libertado. De repente as pessoas apareciam outra vez no trabalho, não falavam do que lhes acontecera e ninguém se atrevia a perguntar - havia demasiados informadores, e a curiosidade em excesso era motivo suficiente para ir parar à prisão. Havia quem voltasse em caixões selados, que era estritamente proibido abrir. Era frequente ouvir contar que amigos e conhecidos tinham andado pelos hospitais, pelas esquadras da polícia e pelos departamentos oficiais a perguntar por pessoas desaparecidas.
Miri estivera sempre em celas fétidas, sem ventilação, com vinte e cinco homens apinhados num espaço de um metro e oitenta por três metros. E quem eram esses homens? O professor riu-se com tristeza. Não a previsível combinação de criminosos de delito comum e de intelectuais. Eram sobretudo pessoas vulgares, presas por não terem a matrícula do carro bem visível ou por terem discutido com um homem que afinal era funcionário do Partido, ou porque os filhos tinham sido aliciados na escola a reproduzir as críticas que os pais faziam a Saddam durante o jantar. Ou porque se tinham recusado a entrar para o Partido numa das muitas campanhas de recrutamento. Outro crime comum era ter um familiar acusado de ter desertado do exército.
Nas celas também havia seguranças e polícias. Os diversos serviços de segurança viviam num estado de competição permanente e nervosa uns com os outros, e os agentes tinham de trabalhar cada vez mais arduamente para mostrarem como eram diligentes. A suspeita podia recair sobre serviços inteiros de segurança. A tortura era uma prática de rotina - Miri e os companheiros ouviam os gritos na sua cela, enquanto esperavam para serem chamados. Espancamentos, electrochoques, sodomização, ameaças de afogamento, golpes nas plantas dos pés. Toda a gente, dos funcionários de topo aos varredores de rua, vivia num estado de ansiedade e medo permanente.
Henry viu as cicatrizes nas nádegas e nas coxas de Taleb, nos sítios onde lhe bateram com o que supunha ser um ramo de um arbusto com espinhos. Os homens que lhe bateram fizeram-no sem ódio, apenas com a força habitual - tinham medo do seu supervisor. E esse homem receava pela sua posição ou pela sua liberdade futura, devido a uma fuga ocorrida no ano anterior,
- Toda a gente o odeia - disse Taleb a Perowne. - A nação mantém-se unida exclusivamente à custa do terror. Todo o sistema se baseia no medo, e ninguém sabe como acabar com a situação. Agora vêm aí os Americanos, talvez pelas razões erradas. Mas Saddam e o Partido Baas vão ser corridos. E então, meu amigo doutor, hei-de oferecer-lhe um jantar num bom restaurante iraquiano aqui de Londres.
O casal de adolescentes vai a atravessar a praça para se ir embora. Resignada, ou ansiosa por aquilo para onde se dirige, deixa que o rapaz lhe ponha o braço por cima do ombro e encosta a cabeça a ele. Continua a coçar-se com a outra mão, à volta da cintura e ao fundo das costas. Aquela rapariga devia vestir um casaco. Mesmo à distância a que se encontra consegue ver as marcas vermelhas deixadas pelas suas unhas. Uma moda tirânica obriga-a a expor o umbigo, o diafragma, ao rigor de Fevereiro. O prurido sugere que ainda não criou tolerância à heroína. É nova na função. Precisa de um antagonista opiáceo como a naloxona para reverter o efeito. Henry saiu da casa de banho e parou ao cimo das escadas, de frente para o candelabro francês do século xix que pende do tecto, perguntando a si próprio se deverá ir atrás dela com uma receita; pensando bem, estava vestido para correr. Mas ela também precisa de um namorado que não seja traficante. E de uma vida nova. Começa a descer a escada, enquanto por cima da sua cabeça os pendentes de vidro do candelabro tilintam devido à vibração do metropolitano da linha de Victoria, que, muito abaixo da sua casa, começa a abrandar para parar na estação de Warren Street. Fica perturbado por pensar nas correntes poderosas, nas sintonias, que alteram o destino, nas influências próximas e distantes, nos acidentes de carácter e circunstância que fazem que uma jovem em Paris esteja a meter na mala as provas do seu primeiro livro de poemas antes de apanhar o comboio para Londres, onde a espera um lar acolhedor, ao mesmo tempo que outra jovem da mesma idade está a ser ludibriada por um rapaz que lhe promete um momento de felicidade à custa de químicos que a prenderão tanto à sua infelicidade como um opiáceo aos seus receptores mil.
Perowne não consegue deixar de pensar, numa atitude sem nada de científico, que o silêncio da casa é acentuado pelo facto de Theo estar a dormir profundamente no terceiro andar, de barriga para baixo, sob o edredão da sua cama de casal. Ainda tem à sua frente algumas horas de esquecimento. Quando acordar vai ouvir música tirada da Internet através das colunas de alta fidelidade, tomar duche e falar ao telefone. A fome só o faz sair do quarto ao princípio da tarde, quando desce para a cozinha, que fica por conta dele, faz mais telefonemas, põe um CD a tocar, bebe quase um litro de sumo e inventa atabalhoadamente uma salada ou uma mistura de iogurte, tâmaras, mel, fruta e miolo de noz. É uma alimentação que, na opinião de Henry, não condiz nada com os blues.
Quando chega ao primeiro andar pára à porta da biblioteca, a divisão mais imponente da casa, momentaneamente atraído pela forma como o sol, filtrado pelos enormes mas finos cortinados cor de aveia, inunda a sala de uma luz grave, de um castanho condizente com os livros. Henry tem a ambição de passar fins-de-semana inteiros ali, estendido num dos sofás Knole, com uma cafeteira de café ao lado, a ler uma ou outra obra-prima de craveira mundial, talvez numa tradução. Não tem nenhum livro específico em mente. Talvez não fosse má ideia perceber o que se entende, ou o que Daisy entende, por génio literário. Não tem a certeza se alguma vez teve essa experiência, apesar de ter feito várias tentativas. Duvida até da sua existência. Mas os seus tempos livres são sempre fragmentados, não só por afazeres, obrigações familiares e momentos dedicados ao desporto, mas também pela agitação inerente a essas pequenas ilhas semanais de liberdade. Não quer passar os dias sentado ou deitado. Também não quer ser um espectador de outras vidas, de vidas imaginárias - apesar de, nas últimas horas, ter passado uma quantidade anormal de tempo a olhar pela janela do quarto. Além disso, interessa-lhe menos reinventar o mundo do que percebê-lo. Os tempos que correm já são suficientemente estranhos. Porquê inventar coisas? Não lhe parece ter capacidade de concentração suficiente para ler muitos livros do princípio ao fim. Só no trabalho é que consegue concentrar-se; nos tempos livres é demasiado impaciente. Fica admirado com o que certas pessoas dizem conseguir fazer nos seus tempos livres, em que passam quatro a cinco horas por dia à frente da televisão para manterem as médias nacionais. Num intervalo de uma cirurgia na semana anterior - o micro-doppler avariou-se e foi preciso mandar vir um de outro bloco -, Jay Strauss afastou-se dos monitores e botões do seu equipamento de anestesia e, espreguiçando-se e bocejando, disse que tinha ficado acordado até de madrugada a acabar de ler um romance de oitocentas páginas de um novo prodígio americano. Perowne ficou impressionado e incomodado - se calhar faltava-lhe pura e simplesmente seriedade. Por orientação de Daisy, Henry lera do princípio ao fim Anna Karenina e Madame Bovary, duas reconhecidas obras-primas. Foi obrigado a abrandar os seus processos mentais e a abdicar de muitas horas do seu precioso tempo, mas empenhou-se a fundo nas subtilezas dos dois sofisticados contos de fadas. E que aprendeu, afinal de contas? Que o adultério é compreensível mas errado, que as mulheres do século xix não tinham uma vida fácil, além de ter ficado a saber como eram, numa determinada época, Moscovo, a província russa e a província francesa. Se, como Daisy dissera, o génio estava no pormenor, então ele não se deixara comover por isso. Os pormenores eram competentes e bastante convincentes, mas não muito difíceis de ordenar para quem tivesse um espírito minimamente observador e tivesse paciência para os escrever. Aqueles livros eram o produto de uma acumulação constante e bem feita.
Tinham pelo menos a virtude de representar uma realidade física reconhecível, o que já não podia dizer-se dos chamados realistas mágicos que ela optara por estudar no último ano. Que ideia era a desses autores famosos - homens e mulheres do século xx - ao atribuírem poderes sobrenaturais às suas personagens? Nunca conseguira ler até ao fim um único desses fastidiosos produtos. Ainda por cima eram escritos por adultos, não por crianças. Em vários desses livros havia heróis e heroínas que tinham nascido com asas ou que as tinham desenvolvido mais tarde - segundo Daisy, um símbolo da sua situação limiar; naturalmente, aprender a voar era uma metáfora para um desejo ousado. Outros tinham um sentido mágico do olfacto, ou despenhavam-se sem que nada lhes acontecesse de aviões que voavam a grande altitude. Um visionário viu os seus pais através da janela de um pub tal como eram algumas semanas depois da sua concepção, a discutirem a possibilidade de fazerem um aborto.
Um homem que tenta aliviar o sofrimento das mentes que falham reparando cérebros tem necessariamente de respeitar o mundo material, os seus limites e o que ele consegue aguentar - a consciência. O que já não é pouco. Para ele, é um artigo de fé, um facto que lhe é confirmado diariamente, que a mente é o que o cérebro, pura matéria, realiza. Se, por um lado, suscita admiração, por outro também suscita curiosidade; o desafio devia ser o real,
e não o mágico. Aquela lista de leitura convenceu Perowne de que o sobrenatural era o recurso de quem tinha uma imaginação insuficiente, uma incúria, uma fuga infantil às dificuldades e às maravilhas do real, à exigente recriação do plausível.
«Não quero mais gnomos mágicos a tocarem tambor», implorou à filha por carta, depois de uma longa diatribe. «Por favor, não quero mais fantasmas, nem anjos, nem demónios, nem metamorfoses. Quando tudo pode acontecer, nada interessa muito. Acho tudo muito kitsch.»
«És um simplório», respondeu-lhe ela num postal, num tom reprovador. «É literatura, não é física!»
Nunca tinham mantido uma das suas frequentes discussões por correio. Ele respondeu-lhe:
«Diz isso ao teu Flaubert e ao teu Tolstoi. Neles não há um único ser humano com asas!»
A resposta dela veio na volta do correio:
«Volta à tua Madame Bovary», e seguia-se a indicação de algumas páginas. «Ele estava a precaver o mundo em relação às pessoas como tu.» As duas últimas palavras estavam sublinhadas várias vezes.
Até agora, as listas de leitura de Daisy têm-no persuadido de que a ficção tem demasiadas falhas humanas, é demasiado irregular e imprecisa para inspirar uma admiração simples pela magnificência do engenho humano, pela forma estonteante como o impossível foi alcançado. Talvez só a música tenha tal pureza. Admira Bach mais que todos os outros, sobretudo as peças para cravo; no dia anterior ouviu duas Partitas no bloco, quando estava a operar o astrocitoma de Andrea. Depois há os suspeitos do costume - Mozart, Beethoven, Schubert. Os seus ídolos do jazz, Evans, Davis, Coltrane. Cézanne, entre vários pintores, algumas catedrais que Henry visitou nas férias. Para além da arte, a sua lista de realizações sublimes incluiria a relatividade geral de Einstein, de cuja matemática absorveu algumas noções quando tinha vinte e poucos anos.
Devia fazer essa lista, decide enquanto desce a ampla escadaria de pedra até ao rés-do-chão, embora saiba que nunca o fará. Uma obra que não conseguimos imaginar-nos nós próprios a realizar, que contém um elemento implacável, quase inumano de perfeição - é essa a sua ideia de génio. A teoria de Daisy de que as pessoas não conseguem «viver» sem histórias não é pura e simplesmente verdadeira. Ele é uma prova viva disso.
Vai buscar o correio e os jornais à porta da frente e lê as maiores a caminho da cozinha. Blix informa a ONU de que os iraquianos estão a começar a cooperar. Em resposta, o primeiro-ministro deverá realçar as razões humanitárias para a guerra, num discurso que fará hoje em Glasgow. Na opinião de Perowne, é o único argumento que vale a pena. Mas a reviravolta que o primeiro-ministro tem dado ultimamente parece-lhe cínica. Henry tem esperança de que a sua história, conhecida às quatro e meia da manhã, ainda saia nas edições mais tardias de Londres. Mas não vem nada nos jornais.
Ninguém foi à cozinha desde que ele de lá saiu. Em cima da mesa estão a sua chávena, a garrafa vazia de água mineral de Theo e o comando da televisão. Aquela fidelidade rígida dos objectos, umas vezes tranquilizadora, outras sinistra, é um pouco surpreendente. Pega no comando, liga a televisão e carrega no botão de tirar o som - ainda faltam vários minutos para o noticiário das nove - e enche a cafeteira eléctrica. Com pequenos acréscimos, a humilde chaleira atingiu o pico do refinamento: em forma de jarro para ser mais eficiente, é de plástico para ser mais segura, tem um bico largo para ser mais fácil de encher, e tem uma pequena plataforma que se liga à electricidade. Nunca teve qualquer queixa do modelo antigo - a tampa pegajosa de estanho, a volumosa e feminina ficha preta à espera de electrocutar as mãos molhadas de alguém parecia-lhe de acordo com a natureza das coisas. Mas houve alguém que pensou seriamente no assunto,
e agora não há volta a dar. O mundo devia reparar neste caso: nem tudo está a piorar.
A notícia chega quando ele está a moer o café. A nova pivot é uma mulher atraente, de pele escura, cujas sobrancelhas depiladas e com grandes arcos exprimem surpresa perante o desafio de mais uma manhã. Primeiro, imagens de um troço de auto-estrada com dezenas de autocarros que transportam manifestantes para a cidade, para o que se espera venha a ser a maior manifestação pública de protesto alguma vez vista. Depois um repórter junto de um grupo de manifestantes já reunidos na zona do Embankment. Tantas manifestações de felicidade são suspeitas. Todos estão entusiasmados por estarem todos juntos nas ruas - as pessoas parecem abraçar-se a si próprias e umas às outras. Se pensam - e talvez tenham razão - que a prática contínua de tortura, as execuções sumárias, a limpeza étnica e até o genocídio são preferíveis a uma invasão, deviam estar com um ar sombrio. O avião, o avião de Henry, é a segunda notícia. As mesmas imagens e apenas mais alguns pormenores: suspeita-se que a causa do incêndio terá sido uma falha eléctrica. Rodeados por alguns polícias, vêem-se os dois russos - o piloto, um indivíduo de pele queimada pelo sol, com cabelo gorduroso, e o co-piloto, gordo e estranhamente alegre. Ou estão bronzeados ou devem ser de uma das repúblicas do Sul. As poucas probabilidades de sobrevivência de uma notícia - sem vilões, sem mortes, sem um desfecho em suspenso - são reanimadas por uma dose de controvérsia artificial: descobriram um perito em aviação que diz que foi uma imprudência um avião em chamas sobrevoar uma área densamente povoada quando havia outras opções. Um representante das autoridades aeroportuárias diz que não havia qualquer ameaça para os londrinos. O governo ainda não comentou.
Desliga a televisão, puxa de um banco e senta-se com o seu café e o telefone. Antes de o seu sábado poder começar tem de ligar para o hospital para saber dos seus doentes. A chamada é transferida para os cuidados intensivos e Henry pede para falar com a enfermeira de serviço. Enquanto alguém vai chamá-la. Henry ouve o barulho de fundo que lhe é familiar, a voz de um maqueiro que reconhece, um livro ou uma pasta de arquivo a baterem numa mesa.
Depois ouve o tom inexpressivo de uma mulher muito ocupada a dizer:
- UCI.
- Deidre? Pensava que era o Charles que estava de serviço neste fim-de-semana.
- Está de baixa com gripe, Dr. Perowne.
- Como está a Andrea?
- O GCS é quinze, boa oxigenação, não está confusa.
- A drenagem?
- Drenou mais uns cinco centímetros. Estou a pensar mandá-la para a enfermaria.
- Está bem - disse Perowne. - Importa-se de dizer ao anestesista que estou de acordo que ela vá para a enfermaria? - Ia a desligar quando acrescentou: - Ela está a dar-lhe muito trabalho?
- Está muito exaltada com tudo o que aconteceu, Dr. Perowne. Mas é assim que gostamos dela.
Pega nas chaves, no telefone e no comando da porta da garagem, que estão numa bandeja de prata ao lado do livro de recibos. A carteira está no sobretudo, que está pendurado numa divisão atrás da cozinha, para lá da garrafeira. A raqueta de squash está no andar de cima, no rés-do-chão, num armário na lavandaria. Veste o velho blusão das suas caminhadas e no momento em que vai ligar o alarme lembra-se de que Theo está em casa. Quando sai e se volta depois de fechar a porta, ouve os gritos das gaivotas que vêm a terra à procura das sobras boas que há na cidade. O Sol está baixo e só metade da praça - a metade do seu lado - está banhada pela luz. Segue o seu caminho para lá da praça por passeios tão húmidos que o seu brilho quase o ofusca, surpreendido pela frescura do dia. O ar tem um cheiro a limpeza. Tem a sensação de que caminha sobre uma superfície natural, por um qualquer ermo costeiro, sobre uma laje lisa de basalto, que lhe recorda vagamente umas férias da sua infância. Devem ter sido os gritos das gaivotas que lhe trouxeram essa recordação. Lembra-se do sabor dos salpicos de água de um mar agitado, de um verde-azulado, e ao chegar a Warren Street lembra-se de que não pode esquecer-se de ir à peixaria. Animado pelo café, por finalmente estar a movimentar-se, pela perspectiva do jogo e pela sensação confortável da capa da raqueta na sua mão, apressa o passo. Nesta zona há quase sempre muito pouca gente na rua aos fins-de-semana, mas lá adiante, em Euston Road, há um enorme grupo de pessoas a dirigir-se para leste, para Gower Street, e há também os autocarros que viu na televisão, numa longa fila na faixa mais à direita. Os passageiros têm a cara encostada às janelas, ansiosos por se apanharem na rua com as outras pessoas. Penduraram as faixas à janela, e também cachecóis com nomes de clubes de futebol e de cidades do interior de Inglaterra - Stratford, Gloucester, Evesham. Entre a multidão impaciente que enche os passeios há pessoas que mandam calar os que estão a fazer barulho - um trombone, uma buzina, um tambor. Há quem ensaie palavras de ordem, que a princípio não consegue distinguir. Tac-tac-tac, não ataquem o Iraque. Os cartazes que ainda não estão a ser utilizados são transportados às costas, em ângulos estranhos sobre os ombros. «Em meu nome não» aparece mais de uma dúzia de vezes. Uma palavra de ordem tão centrada em si própria sugere um novo mundo de protestos, do qual também fazem parte os exigentes consumidores de champôs ou refrigerantes, que ora querem sentir-se bem ora bonitos. Henry prefere o lânguido «fim a este tipo de coisas».
Passa por um cartaz de um dos grupos organizadores - a Associação Britânica de Muçulmanos. Lembra-se bem deles. Lera recentemente num jornal um artigo deles a explicar que no Islão a apostasia é um pecado punido com a morte. A seguir vem uma faixa do Coro das Mulheres de Swaffham e depois uma dos Judeus Contra a Guerra.
Em Warren Street vira à direita. Agora o seu ângulo de visão estende-se para leste, em direcção a Tottenham Court Road. Aí a multidão é ainda maior e constantemente engrossada por centenas de pessoas que saem da estação do metropolitano. Iluminadas por trás por um Sol baixo, as figuras em silhueta separam-se e convergem numa massa mais escura, mas continua a ser possível ver uma banca de livros improvisada e um carrinho a vender cachorros, descaradamente montado quase à porta do McDonald's da esquina. É surpreendente a quantidade de crianças que andam na rua e até de bebés em carrinhos. Apesar do seu cepticismo, Perowne, de ténis de sola branca e agarrando a raqueta com mais força, sente a sedução e o entusiasmo inerentes àqueles acontecimentos; a multidão a apoderar-se das ruas, dezenas de milhares de desconhecidos a convergirem para um mesmo local com um único objectivo e movidos por uma mesma alegria revolucionária.
Podia estar com eles, pelo menos em espírito, pois nada conseguiria demovê-lo do seu jogo, se o professor Taleb não tivesse tido um aneurisma na artéria cerebral média. Nos meses que se seguiram às suas conversas, Perowne entregara-se a uma leitura compulsiva sobre o regime iraquiano. Ficou a saber que tinha sido Estaline o exemplo inspirador de Saddam e a conhecer a rede de cumplicidades familiares e tribais que o sustentavam, bem como os palácios que lhes haviam sido oferecidos em recompensa. Leu os pormenores doentios dos genocídios no Norte e no Sul do país e da limpeza étnica e leu também textos que falavam do vasto sistema de informadores, das estranhas torturas e do gosto de Saddam por participar nelas, e dos terríveis castigos transformados em leis, como as marcas com ferros em brasa e as amputações. Naturalmente, Henry seguiu atentamente os relatos das medidas tomadas contra os médicos que se recusavam a praticar essas mutilações. Concluiu que raramente a corrupção e a maldade tinham sido mais inventivas, sistemáticas e generalizadas. Miri tinha razão - era de facto uma república do medo. Henry leu também o famoso livro de Makiya. Parecia-lhe evidente que o princípio organizador de Saddam era o terror.
Perowne sabe que, quando um império poderoso - como o assírio, o romano ou o americano - se lança numa guerra, reclamando justa causa, a história não se deixa impressionar. Receia também que a invasão ou a ocupação corram mal. Os manifestantes podem ter razão. Reconhece também o carácter fortuito das opiniões; se não tivesse conhecido e admirado o professor, talvez pensasse de maneira diferente, talvez tivesse uma atitude menos ambivalente em relação à guerra que se aproxima. As opiniões são uma roleta russa; por definição, nenhuma das pessoas que naquele momento se apinham em torno da estação do metropolitano de Warren Street terá sido torturada pelo regime, nem sequer conhece nem é amiga de nenhuma pessoa que o tenha sido, nem sequer sabe grande coisa sobre o país. É provável que a maior parte daquelas pessoas quase nem tenha dado pelos massacres dos Curdos ou dos Xiitas e que agora sinta um profundo envolvimento na situação iraquiana. Têm motivos de sobra para ter aquelas opiniões, nomeadamente os receios pela sua própria segurança. Diz-se que um ataque ao Iraque irá levar a Al-Qaeda, que despreza tanto o ímpio Saddam como a oposição xiita, a vingar-se sobre as cidades mais brandas do Ocidente. O interesse próprio é uma causa tão meritória como qualquer outra, mas Perowne não consegue olhar para eles como donos exclusivos da verdade moral, e se calhar nem os próprios manifestantes se vêem como tal.
Os bares que vendem sanduíches estão fechados ao fim-de-semana. Só o quiosque e um restaurante estão abertos. O dono do Rive Gaúche está a molhar o passeio com um balde de zinco, à boa maneira parisiense. Um homem de rosto avermelhado, mais ou menos da idade de Perowne, com um boné de basebol e um blusão amarelo, vem a andar em direcção a ele, de costas para a multidão, com um carrinho de mão. É um empregado da Câmara que anda a limpar as sarjetas. Parece estranhamente empenhado em fazer um bom trabalho e empurra com força a vassoura contra o ângulo do passeio, para tirar todo o lixo. É desconfortável ver tanto vigor e zelo num sábado de manhã; é quase uma acusação feita em silêncio. Que pode haver de mais fútil que aquele trabalho doméstico à escala urbana, mal pago, quando atrás dele, ao fundo da rua, as caixas e os copos de papel se amontoam rapidamente sob os pés dos manifestantes reunidos à porta do McDonald's? E quando, para lá deles, existe por toda a cidade uma tempestade diária de lixo? Quando os dois homens se cruzam, o seu olhar encontra-se momentaneamente, mas é um olhar neutro. As córneas dos olhos do varredor têm uma coloração amarelada que junto às pestanas se transforma em vermelho. Por um momento vertiginoso, Henry sente-se preso ao outro homem, como se estivesse com ele num sobe e desce, preso num eixo que podia ligá-los à vida um do outro.
Perowne desvia a cara e abranda o passo antes de virar para o parque onde o seu carro está estacionado. Como deve ter sido tranquilizador, numa outra época, gozar de prosperidade e acreditar que a condição social das pessoas era atribuída por um ser sobrenatural. E não ver como a própria fé estava ao serviço da prosperidade - uma espécie de anosognosia, um útil termo psiquiátrico para designar a ausência de consciência da sua própria condição.
Agora que achamos que percebemos tudo, qual é o ponto da situação? Depois das ruinosas experiências do século anterior, de tantos comportamentos incorrectos, de tantas mortes, instalou-se um agnosticismo repugnante em torno das questões da justiça e da redistribuição da riqueza. Acabaram-se os grandes ideais. O mundo terá de melhorar, se é que algum dia vai melhorar, a pouco e pouco. A maioria das pessoas tem uma visão existencialista da vida - ter de ganhar a vida a varrer as ruas é visto apenas como uma questão de azar. Não estamos numa era visionária. As ruas têm de ser limpas. Os azarados que se cheguem à frente.
Desce uma pequena rampa de pedras escorregadias em direcção ao sítio onde outrora os donos de casas como a sua guardavam os cavalos. Hoje em dia, quem tem dinheiro para isso guarda ali os carros, sem ter de os deixar estacionados na rua. Preso ao seu porta-chaves está um botão de infravermelhos com o qual acciona a ruidosa porta de aço, que se ergue em impulsos mecânicos, revelando um longo focinho e uns olhos brilhantes, ansiosos por serem libertados. É um Mercedes S 500 prateado, com estofos de pele de cor creme, que já não faz Henry sentir-se embaraçado. Nem sequer adora o carro - é apenas uma componente sensual daquilo que considera o seu quinhão mais que generoso dos bens do mundo. Se não fosse seu, diz para tentar convencer-se a si próprio, seria de qualquer outra pessoa. Há uma semana que não anda nele, mas na escuridão da garagem seca e sem pó o carro mantém uma espécie de calor animal. Abre a porta e senta-se. Gosta de o conduzir vestido com o seu velho fato de desporto. No outro banco da frente está um exemplar antigo do Journal of Neurosurgery, com um relatório seu sobre um congresso realizado em Roma. Atira a raqueta de squash para cima do jornal. A pessoa que mais desaprova o carro é Theo, que diz que é o carro típico de um médico, com um tom de condenação absoluta. Por sua vez, Daisy disse que achava que Harold Pinter tinha um carro parecido com aquele, o que significava que para ela estava tudo bem. Rosalind encorajara-o a comprá-lo. Na sua opinião, a vida dele está cheia de uma austeridade demasiado culpada, e nunca comprar roupa, ou um bom vinho ou um quadro tem o seu quê de pretensioso. É como se continuasse a viver como um estudante. Estava na altura de ele se satisfazer.
Passou vários meses a guiá-lo como se andasse sempre a pedir desculpa por isso, raramente em quarta, com muita relutância em ultrapassar, fazendo sinal aos carros de que avançassem, cuidadoso em dar espaço aos carros mais baratos. Ficara curado numa viagem ao Noroeste da Escócia com Jay Strauss, para uns dias de pesca. Seduzido pelas estradas quase sem carros e pela forma triunfante como Jay celebrava o «espírito luterano», Henry aceitou-se finalmente como proprietário, como senhor daquele carro. Sempre se considerou um bom condutor: tal como quando está no bloco operatório, é firme, preciso, defensivo na exacta medida. Andaram à pesca de trutas nos ribeiros e lagos da zona de Torridon. Numa tarde de chuva olhou por cima do ombro enquanto estava à pesca e viu o carro a uns cem metros de distância, estacionado de lado numa subida do caminho, banhado por uma luz suave contra um fundo de vidoeiros, urzes em flor e um céu escuro que prenunciava uma trovoada - verdadeiramente a visão de um publicitário tornada realidade -, e sentiu pela primeira vez uma alegria suave, saborosa, por aquele carro ser seu. Claro que é possível e legítimo amar um objecto inanimado. Mas aquele momento fora o auge do caso de amor entre os dois. Desde então, os seus sentimentos acomodaram-se num prazer ligeiro e ocasional. O carro dá-lhe uma vaga satisfação quando vai a guiá-lo, mas tirando isso quase nunca pensa nele. De acordo com a promessa e a intenção dos seus fabricantes, tornou-se parte dele.
Mas há umas quantas pequenas coisas que ainda continuam a entusiasmá-lo, como a ausência de qualquer vibração quando o carro está em ponto morto; só o conta-rotações confirma que o motor está a trabalhar. Liga o rádio, no qual se ouve uma longa e respeitosa aclamação quando sai da garagem, fecha a porta de aço atrás de si e sobe lentamente a rampa, virando à esquerda, outra vez para Warren Street. O clube de squash fica em Huntley Street, num edifício que outrora albergou um lar de freiras. É perto, mas vai de carro porque depois tem algumas voltas a dar. Sem qualquer sentimento de vergonha, desfruta sempre da cidade de dentro do carro, onde o ar é filtrado e a música estereofónica dá um certo pathos aos pormenores mais humildes - como, por exemplo, agora que um trio de cordas de Schubert enche de dignidade a rua estreita por onde vai. Está a percorrer alguns quarteirões para sul, para fugir a Tottenham Court Road. Cleveland Street era famosa pelas pequenas fábricas de vestuário com más condições de trabalho e pelas prostitutas. Agora tem restaurantes gregos, turcos e italianos - daqueles que nunca vêm mencionados nos guias turísticos -, com esplanadas onde as pessoas comem no Verão. Há uma loja de um homem que arranja computadores, uma loja de tecidos, um sapateiro e, mais à frente, um empório de perucas, muito apreciado pelos travestis. É um bom exemplo de uma viela no coração de uma cidade - obscura, segura de si própria, muito variada. É neste momento que lhe ocorre qual a origem da sua vaga sensação de vergonha ou embaraço: é a sua disponibilidade para se deixar convencer de que o mundo mudou de forma a torná-lo irreconhecível, de que as ruas inofensivas como aquela e a vida tolerante que lhes é inerente podem ser destruídas pelo novo inimigo, que está bem organizado, é tentacular, cheio de ódio e de um zelo imperturbável. Estas preocupações apocalípticas parecem absolutamente deslocadas em pleno dia, quando as ruas e as pessoas que as cruzam justificam e garantem a sua própria existência. O mundo não mudou assim tanto. Falar de cem anos de crise é ser indulgente. Sempre houve crises, e o terrorismo islâmico há-de soçobrar, tal como as guerras mais recentes, as alterações climáticas, a política do comércio internacional, a falta de solo arável e de água, a fome, a pobreza e tudo o mais.
Ouve a peça de Schubert baixar suavemente de tom e voltar a subir. A rua é bonita, e a cidade, uma grande realização dos vivos e dos mortos que outrora a habitaram, também é bela e robusta. Não se deixará destruir facilmente. É demasiado boa para desistir de si própria. Ao longo dos séculos a vida na cidade tem vindo a melhorar constantemente para a maior parte das pessoas, apesar dos drogados e dos sem-abrigo que nela existem agora. O ar está melhor, e já há salmões no Tamisa e as lontras estão a voltar. Melhorou para a maior parte das pessoas a todos os níveis - material, médico, intelectual, sensual. Os professores de Daisy na universidade achavam a ideia de progresso antiquada e ridícula. Cheio de indignação, Perowne agarra o volante com mais força. Recorda uma frase de Medawar, um homem que admira: «Menosprezar a esperança do progresso é a maior das imbecilidades, a última palavra em matéria de pobreza de espírito e estreiteza de vistas.» Claro que não vai ser tolo ao ponto de se deixar levar por essa ideia dos cem anos. No último semestre do curso de Daisy foi a uma sessão aberta na universidade. Os jovens oradores dramatizaram a vida moderna como uma sequência de calamidades. É o estilo deles, a sua forma de serem inteligentes. Não seria interessante nem profissional apontar a erradicação da varíola como umas das componentes do mundo moderno. Ou a recente proliferação de democracias. Ao fim do dia, um deles fez uma intervenção sobre as perspectivas da nossa civilização consumista e tecnológica - nada boas. Mas, se o sistema actual desaparecer agora, o futuro ver-nos-á em retrospectiva como deuses e, nesta cidade, como deuses afortunados, abençoados por cornucópias de supermercados, torrentes de informação ao nosso dispor, roupas quentes que não pesam nada, uma maior esperança de vida, máquinas assombrosas. Vivemos na era das máquinas assombrosas. Telemóveis pouco maiores que as nossas orelhas. Discotecas inteiras em objectos do tamanho da mão de uma criança. Câmaras que conseguem transmitir as suas imagens para todo o mundo. Ele encomendou sem qualquer esforço o carro que vai a guiar através da Internet, com um instrumento pousado sobre a sua secretária. O aparelho estereotáctico computorizado que utilizou na véspera revolucionou a sua forma de fazer biópsias. Os dois chineses que vão a andar na rua de mão dada estão ligados por um equipamento digital, tendo cada um um fone no ouvido para ouvir o discman. E aquela rapariga magra de fato de treino que vai a empurrar um carrinho de bebé todo-o-terreno de três rodas vai quase aos saltos. Na verdade, toda a gente por quem ele passa naquela rua agradavelmente obscura parece feliz, pelo menos tão feliz como ele. Mas, para os professores da academia, para as pessoas das humanidades em geral, o sofrimento é mais fácil de analisar; é muito mais difícil entender a felicidade. Com um espírito de exaltação agressiva pelos tempos que correm, Perowne curva o Mercedes para leste, em direcção a Maple Street. O seu bem-estar parece precisar da oposição de entidades espectrais, de figuras inventadas por si próprio e que ele possa derrotar. Às vezes sente-se assim antes de um jogo. Não gosta particularmente daquele estado de espírito, mas só parcialmente consegue controlar a corrente imparável dos seus pensamentos - o ruído de fundo dos seus pensamentos solitários é determinado pelo seu estado emocional. Talvez afinal não se sinta feliz e esteja apenas a tentar animar-se. Está a passar pelo edifício que fica por baixo da Torre dos Correios - que agora já lhe parece menos feio, com a sua entrada de alumínio, o seu revestimento azul e as formas geométricas das janelas e das grelhas de ventilação a fazerem lembrar um quadro de Mondrian. Mas, mais adiante, depois do cruzamento de Fitzroy Street com Charlotte Street, a rua está cheia de edifícios de escritórios modestos e de residências de estudantes - com janelas mal encastradas, pouco ambiciosos e pouco resistentes. Num dia de chuva e com o estado de espírito adequado, poder-se-á pensar que estamos na Varsóvia da era comunista. Só quando muitos daqueles prédios forem deitados abaixo vai ser possível começar a gostar deles.
Henry está agora numa rua paralela a Warren Street, dois quarteirões abaixo. Continua a sentir-se incomodado por aquele estado de espírito peculiar, de felicidade misturada com agressividade. Ao aproximar-se de Tottenham Court Road inicia a rotina familiar de enumerar os acontecimentos recentes que podem ter-lhe dado origem. O facto de ter feito amor com Rosalind, de ser sábado de manhã, de ir a guiar o seu carro, de ninguém ter morrido no avião e de ir jogar squash, de Andrea Chapman e os outros doentes que operou no dia anterior estarem bem, de Daisy estar prestes a chegar - tudo isso está do lado bom. E do outro lado? Por exemplo, o facto de estar a travar. De haver um polícia de trânsito, com um colete amarelo, a meio de Tottenham Court Road, com a mota parada, a estender o braço para lhe fazer sinal de parar. Claro que a rua está fechada por causa da manifestação. Devia ter-se lembrado disso. Mesmo assim, continua a andar, a abrandar, como a fazer de conta que não percebe ou que talvez abram uma excepção para ele - afinal, só quer atravessar a rua, não quer percorrê-la de alto a baixo. Pelo menos terá o que lhe é devido: uma pequena encenação de troca de palavras entre um polícia firme e apologético e um cidadão tolerante e com um ar grave.
Pára no cruzamento das duas ruas. O polícia dirige-se de facto a ele, olhando para os manifestantes ao fundo da rua e tentando disfarçar um sorriso tolerante que sugere que, por vontade dele, o Iraque já teria sido bombardeado há muito tempo, e não seria só o Iraque. Perowne, descontraído ao volante, teria respondido com um sorriso discreto, se não fosse terem acontecido duas coisas, quase em simultâneo. Por detrás do polícia, do outro lado da rua, surgem três homens, dois altos e um mais baixo e gordo e com um fato preto, que saem apressadamente de um clube de dança do ventre, o Spearmint Rhino, e quase tropeçam com o esforço de não desatarem a correr. Quando passam a esquina para a rua onde Perowne está a tentar entrar deixam de estar tão controlados e começam a correr em direcção a um carro estacionado não muito longe, com o mais baixo a ficar cada vez mais para trás. A outra coisa que acontece é que entretanto o polícia, sem dar pelos homens, pára de repente a caminho de Perowne e leva uma mão ao ouvido esquerdo. Acena com a cabeça, fala para um microfone preso à frente da sua boca e volta-se para a mota. Mas depois, lembrando-se do que ia fazer, olha para trás. Perowne olha para ele e, como a desculpar-se e com uma expressão de interrogação, aponta para University Street. O polícia encolhe os ombros, depois acena com a cabeça e faz um gesto com a mão como que a dizer: «Vá lá, depressa. Que se lixe.» Os manifestantes ainda vêm lá ao fundo e ele acabou de receber novas instruções.
Perowne não está atrasado para o jogo, nem impaciente por atravessar a rua. Gosta do seu carro, mas nunca se interessou pelos pormenores do seu desempenho, pelo tempo de aceleração quando está parado. Deve ser impressionante, mas nunca o testou. Já é velho para deixar marcas de pneus junto aos semáforos. Mete a primeira e olha diligentemente para os dois lados da rua, apesar de ela só ter um sentido, de sul para norte; sabe que podem vir peões do outro lado. Se percorrer rapidamente as quatro faixas de rodagem da rua, o polícia, que está a pôr a mota a trabalhar, já não terá de se preocupar com ele. Perowne não quer causar-lhe problemas com os superiores hierárquicos. Além disso, houve qualquer coisa no gesto da sua mão que deu a entender que havia necessidade de ser rápido. Deve ter percorrido os dezoito a vinte metros até à entrada de University Street, onde mete a segunda, a uns trinta quilómetros à hora. Talvez quase quarenta. No máximo quarenta e cinco. Depois de meter a mudança, abranda, à procura da rua certa para virar antes de Gower Street, que também está fechada.
Esse avanço fá-lo regressar imediatamente à sua lista, às causas próxima e distante do seu estado emocional. Um segundo pode ser muito tempo em introspecção. Foi o suficiente para Henry iniciar a lista das coisas negativas e também o suficiente para pensar, ou sentir, sem traduzir esse pensamento em sintaxe e palavras, que a coisa que mais o preocupa é o estado do mundo, e os manifestantes estão ali para lhe recordar isso mesmo. Se calhar o mundo sofreu mesmo uma transformação fundamental, e essa questão está a ser muito mal gerida, sobretudo pelos Americanos. Há pessoas no mundo, bem organizadas e relacionadas, que seriam capazes de o matar a ele e à sua família e amigos para afirmarem as suas posições. A dimensão da morte a infligir já não está em casa. Haverá outras mortes à mesma escala, talvez nesta cidade. Terá tanto medo que não consegue enfrentar esse facto? As asserções e dúvidas não são formuladas. Henry exprime-as com um encolher de ombros mental seguido por um impulso de interrogação. É a linguagem pré-verbal que os linguistas apelidam de mental. Dificilmente poderá considerar-se uma forma de linguagem; é mais uma matriz de padrões variáveis, que vão consolidando e comprimindo o significado em fracções de segundo e misturando-o de forma indissolúvel com um cambiante emocional próprio, bastante semelhante a uma cor. Um amarelo doentio. Mesmo com o dom de condensação dos poetas, poderiam ser precisas centenas de palavras e muitos minutos para o descrever. Por isso, quando uma mancha vermelha cruza a sua visão periférica esquerda, como uma forma na retina num ataque de insónia, surge já com a qualidade de uma ideia, de uma ideia nova, inesperada e perigosa, mas inteiramente sua e não do mundo exterior a ele.
Vai a guiar com uma perícia inconsciente, penetrando num espaço estreito limitado à direita por uma ciclovia sobre um passeio e à esquerda por uma fila de carros estacionados. É dessa fila que surge o pensamento, e com ele o som de um espelho partido e o guincho de duas superfícies de chapa de aço a roçarem uma na outra sob pressão, no momento em que dois carros tentam ocupar um espaço que só dá para um. A decisão instantânea de Perowne no momento do impacto é acelerar e desviar-se para a direita. Há outros sons - o staccato do carro vermelho que está à sua esquerda a chocar com uma meia dúzia de carros estacionados e a pancada forte do cimento contra a borracha, como um único aplauso amplificado, no momento em que o Mercedes sobe o passeio da ciclovia. A roda de trás também bate no passeio. Fica à frente do intruso e trava. Os carros param de esguelha, a dez metros um do outro, com os motores desligados, e por um momento faz-se silêncio e ninguém sai do seu interior.
Pelos padrões actuais dos acidentes rodoviários - Henry trabalhou cinco anos no serviço de acidentes e urgências -, é um caso banal. De certeza que não há feridos, e os seus serviços de médico não vão ser precisos. Já teve de o fazer duas vezes nos últimos cinco anos, ambas devido a ataques cardíacos, uma vez num voo para Nova Iorque e outra num teatro londrino abafado durante uma vaga de calor em Junho. Ambas as situações foram penosas e complicadas. Não está em choque, não está estranhamente calmo, nem exaltado, nem petrificado, a sua visão não está anormalmente lúcida, não está a tremer.
Ouve os estalidos do metal quente a contrair-se. A única coisa que sente é uma irritação crescente a debater-se com uma cautela natural. Não precisa de ver - sabe que um dos lados do seu carro está amolgado. Já está a imaginar as semanas, os meses de papelada, de contactos com a seguradora, de telefonemas, de tempo perdido na oficina. Há algo de original e primitivo que o seu carro perdeu e que, por bem reparado que fique, nunca voltará a ter. Também há o impacto sobre o eixo dianteiro, sobre a suspensão, sobre todas aquelas peças misteriosas que evocam a essência da tortura prolongada - a cremalheira e a roda dentada. O seu carro não voltará a ser o mesmo. Está ruinosamente alterado. E o mesmo acontece com o seu sábado. Não conseguirá chegar a tempo do jogo.
Acima de tudo, sente-se invadir por uma emoção peculiarmente moderna - a rectidão do condutor, caldeando um veemente desejo de justiça com a excitação do ódio, que faz que uma série de frases batidas lhe passem pela cabeça, revitalizadas, desprovidas da sua natureza de estereótipos: «saia daí, não fez sinal, seu estúpido, nem sequer olhou, para que é que serve o espelho, seu sacana de merda». A única pessoa do mundo que ele odeia está sentada no carro atrás do seu, e Henry vai ter de falar com essa pessoa, enfrentá-la, trocar com ela informações sobre o seguro - tudo isso quando podia estar a jogar squash. Sente que ficou para trás. E quase como se o visse: a outra versão dele, a mais provável, vai a recuar, absorta, por uma rua secundária, como um tio rico que vai a desaparecer, pensativo e feliz, a guiar descuidadamente num sábado e a deixá-lo sozinho e infeliz, entregue ao seu novo, improvável e inelutável destino. Essa é que é a realidade. Dizê-lo a si próprio é uma maneira de trair o pouco que acredita que assim seja de facto. Apanha a raqueta do chão do carro e torna a pô-la em cima do Journal. A sua mão direita está no fecho do carro. Mas não se mexe ainda. Está a olhar pelo espelho retrovisor. Tem motivos para ser prudente.
Tal como esperava, há três cabeças no carro atrás do seu. Sabe que pode ser alvo de conclusões precipitadas e por isso tenta controlá-las. Ao que sabe, a dança do ventre é uma actividade legal. Se tivesse visto os três homens sair apressadamente, mesmo com um ar furtivo, do Wellcome Trust ou da British Library, talvez já tivesse saído do carro. Como iam depressa, é possível que fiquem ainda mais irritados do que ele com a demora. O carro é um BMW série cinco, um automóvel que costuma associar, por nenhuma razão em especial, com criminalidade e tráfico de droga. E são três homens - não um. O mais baixo vem à frente, ao lado do condutor e, no momento em que Henry olha, a porta desse lado está a abrir-se, seguida imediatamente pela porta do lado do condutor e depois pela porta de trás do outro lado. Perowne, que não quer ser obrigado a falar sentado no carro, sai também. Aquela pausa de meio minuto fez que a situação se assemelhasse quase a um jogo, em que todos os cálculos já foram feitos. Os três homens têm as suas razões para quererem ganhar tempo e discutirem o passo seguinte. Enquanto dá a volta pela frente do carro, Perowne pensa que não pode esquecer-se de que tinha prioridade e de que está furioso. Mas também tem de ter cuidado. Sentindo que estas ideias contraditórias em nada o ajudam, decide que será melhor enfrentar o confronto sentindo-se como se sente, em vez de se dar ao trabalho de procurar argumentos. Nesse momento tem o impulso de ignorar os homens, de se afastar deles e dar a volta pela frente do Mercedes para ver o lado com que bateu. Mas, até no momento em que está parado, de mãos nas ancas, numa pose de proprietário ultrajado, mantém os homens, que agora avançam para ele em grupo, no seu ângulo de visão.
À primeira vista parece que não há estragos. O espelho está intacto, a chapa não está amolgada; é de admirar, mas até a pintura metalizada está intacta. Inclina-se para a frente, para apanhar a luz noutro ângulo. Com os dedos
abertos, passa a mão ao de leve sobre a carroçaria, como se soubesse o que está a fazer. Não tem nada. Rigorosamente nada. Em termos tácticos, imediatos, este facto parece deixá-lo em desvantagem. Não tem nada para mostrar que justifique a sua raiva. Se houver algum dano, será entre as rodas da frente; não está à vista.
Os homens pararam para ver qualquer coisa que está no chão. O mais baixo, de fato preto, bate com a biqueira do sapato no espelho lateral do BMW, que se partiu, voltando-o como faria a um animal morto. Um dos outros, um homem alto com o rosto pesaroso de um cavalo, apanha-o e segura-o com ambas as mãos. Olham para o espelho e depois o mais baixo diz qualquer coisa, e olham ambos para Perowne ao mesmo tempo, com uma curiosidade abrupta, como um veado perturbado no seu habitat. Ocorre-lhe pela primeira vez que pode estar numa situação de algum perigo. A rua, oficialmente fechada de ambos os lados, está deserta. Atrás deles, em Tottenham Court Road, um grupo isolado de manifestantes dirige-se para sul para se juntar ao grosso da manifestação. Perowne olha por cima do ombro. Atrás dele, em Gower Street, o desfile já começou. Milhares de pessoas congregadas numa coluna única e densa dirigem-se a Piccadilly, com as faixas inclinadas para a frente num ângulo heróico, como num cartaz revolucionário. Dos seus rostos, mãos e roupas emana uma cor intensa, quase quente, específica da congregação de muitos seres humanos. Para que o seu efeito seja mais dramático, caminham em silêncio a uma cadência marcada pelo toque fúnebre dos tambores.
Os três homens retomam a marcha. Como antes, é o mais baixo - um metro e sessenta, no máximo um metro e setenta - que vem à frente. Tem um passo característico, com uma pequena contorção e um salto e o tronco inclinado para a frente, como se empurrasse um barco com uma vara num curso de águas calmas. O barqueiro do Spearmint Rhino. Talvez esteja a ouvir música com uns auscultadores.
Há pessoas que não fazem nada, nem mesmo discutir, sem uma banda sonora. Os outros dois parecem subordinados, ajudantes. Vêm de ténis, fato de treino e boné - a moeda corrente das ruas, tão generalizada que já não é um estilo. Às vezes, Theo veste-se assim para, segundo diz, não ter de decidir qual é o seu aspecto. O tipo da cara de cavalo continua a agarrar o espelho com as duas mãos, presumivelmente para o utilizar como argumento. O incessante rufar dos tambores não ajuda à situação, e o facto de haver tantas pessoas por perto, mas sem darem por ele, faz Henry sentir-se ainda mais isolado. É melhor continuar a dar um ar de quem está ocupado. Baixa-se para ver o carro mais de perto e repara que há uma lata de Coca-Cola esmagada debaixo do pneu da frente. Nota então, com um misto de alívio e de irritação, que há uma superfície irregular na porta de trás, onde o brilho é menor, como se tivesse sido esfregada com uma lixa de esmeril. Foi certamente ali o ponto de contacto, confinado a uma área de pouco mais de meio metro. Fez muito bem em desviar-se antes de travar. Sente-se agora mais seguro e endireita-se para enfrentar os homens que, nesse momento, param à frente dele.
Ao contrário de alguns dos seus colegas - os psicopatas cirúrgicos -, Henry não gosta de confrontos pessoais. Não é do tipo de empunhar o machado de guerra. Mas a experiência clínica é, para além de tudo o mais, um processo abrasivo, que endurece, que vai necessariamente apagando qualquer tipo de sensibilidade. Os doentes, os estagiários, os familiares dos mortos, os tratamentos - inevitavelmente, ao longo de duas décadas, houve muitos momentos em que teve de enfrentar situações difíceis, de dar explicações ou de acalmar alguém quando ele próprio estava tomado de uma forte emotividade. Normalmente há muitas coisas em jogo: para os colegas, questões de hierarquia, de orgulho profissional ou de recursos desperdiçados; para os doentes, uma perda de capacidades; para os familiares, uma mulher ou um filho repentinamente mortos, situações muito mais importantes do que um carro riscado. Sobretudo quando envolvem doentes, aqueles momentos têm uma certa pureza e inocência; tudo é desmontado até chegar àquilo que é essencial à pessoa humana: a memória, a visão, a capacidade de reconhecer os rostos, a dor crónica, as funções motoras, até um certo sentido do eu. Por detrás disso, com um brilho ténue, estão as questões da ciência médica, as maravilhas de que é capaz, a fé que inspira e, opondo-se a tudo isso, a sua ignorância do cérebro e da mente - a diminuir, é certo, mas ainda vasta - e da relação entre ambos. Mexer regularmente no cérebro com algum sucesso, mesmo que modesto, é uma aventura relativamente recente. Tem necessariamente de ser frustrante uma vez por outra, e, quando isso acontece, os familiares acorrem ao seu gabinete, sem que ninguém tenha de calcular previamente como irá agir ou o que irá dizer - ninguém se sente observado. As palavras saem e pronto.
Entre os conhecidos de Perowne, há médicos que não lidam com o cérebro, mas apenas com a mente, com as doenças da consciência; esses seus colegas têm uma tradição, um conjunto de preconceitos, a que hoje em dia raramente dão voz, de que os neurocirurgiões são uns tolos arrogantes e disparatados munidos de instrumentos de gume cego, endireitas deixados à solta perante o objecto mais complexo que se conhece no universo. Quando uma operação falha, o doente ou os familiares têm tendência para regressar a esta ideia. Mas nessa altura é tarde de mais. O que é dito nesses momentos é trágico e sincero. Por aterradores que sejam aqueles momentos, por muito que ele saiba ter sido difamado pela impossibilidade de o doente se lembrar - ou por não querer lembrar-se - da explicação que lhe deu dos riscos inerentes à cirurgia, por muito certo que esteja de que agiu no bloco operatório o melhor que os conhecimentos e as técnicas correntes permitem, Perowne sente-se sempre punido - foi manifestamente incapaz de criar menos expectativas -, mas também estranhamente purificado: teve uma interacção humana fundamental, à sua maneira tão elementar como o amor.
Mas ali, em University Street, é impossível não sentir que vai começar uma representação. Está ao lado do seu potente carro, vestido como um espantalho, com um casaco sujo, uma camisola cheia de buracos, umas calças sujas de tinta e atadas com um cordel. Está preso a um papel e não tem maneira de se libertar dele. Como as pessoas gostam de dizer, é uma situação do drama urbano. Um século de filmes e meio século de televisão tiraram qualquer resquício de sinceridade àquela situação. É um puro artifício. Em cena estão os carros e os donos dos carros. De um lado os desconhecidos, cuja deixa será moldada pelo seu respeito por si próprios. Alguém vai ter de impor a sua vontade e vencer, e o outro vai ter de ceder. A cultura popular tornou esta questão insignificante à força de se repetir, este antigo património genético que também lubrifica os maquinismos da voz dos sapos, dos galos e dos veados ainda pequenos. Apesar da variedade e da informalidade do vestuário, há regras tão elaboradas como a politesse da corte de Versailles, que nenhum conjunto de genes consegue expressar. Para começar, não é permitido reconhecer perante eles a consciência que se tem do acontecimento nem a ironia que o envolve: o som dos passos e dos tambores tribais dos arautos da paz chega até eles vindo do cimo da rua. Para além disso, nada poderá prever-se, mas tudo parecerá bater certo assim que acontecer.
- Um cigarro?
Exactamente assim. É assim que tem de começar.
Num gesto antiquado, o outro condutor estende o maço com um ímpeto do pulso, dispondo os cigarros sem filtro como tubos de um órgão. A mão fechada que se estende
para Perowne é grande, condizente com a altura do homem, e muito pálida, com pêlos pretos encaracolados que se prolongam das costas da mão até às articulações interfalângicas distais. Outra coisa que atrai a atenção profissional de Perowne é um tremor persistente. Talvez a falta de firmeza daquele gesto seja uma solicitação de uma palavra tranquilizadora.
- Não fumo, obrigado.
O homem acende um cigarro para si e sopra o fumo para lá de Henry, que já perdeu um ponto - não é suficientemente homem para fumar ou, de um ponto de vista mais essencial, para oferecer alguma coisa. É importante não ser passivo. Terá de tomar uma atitude. Estende a mão.
- Henry Perowne.
- Baxter
- Mr Baxter?
- Baxter.
A mão de Baxter é grande, a de Henry é apenas muito ligeiramente maior, mas nenhum deles tenta fazer uma manifestação de força. O seu aperto de mão é breve e ligeiro. Baxter é um daqueles fumadores de cujos poros emana um perfume, uma substância oleosa que tem a ver com aquele hábito. O alho afecta algumas pessoas da mesma forma. Talvez isso esteja relacionado com os rins. É um homem ainda novo, nervoso, com uma cara pequena, sobrancelhas grossas e cabelo castanho-escuro quase rapado. A boca é bolbosa, com a sombra de uma barba forte escanhoada a contribuir para lhe dar o aspecto de um focinho. O ar simiesco fica ainda mais completo com uns ombros descaídos. Os trapezóides trabalhados sugerem que passa tempo no ginásio, talvez para compensar a altura. O fato estilo anos sessenta - corte justo, lapelas altas, calças sem vinco descaídas na cintura - mostra alguma tensão em torno do único botão apertado do casaco. O tecido também está um pouco esticado na zona dos bicípites.
Dá meia volta, baixa-se de costas voltadas para Perowne e depois torna a levantar-se. Parece irritado e impaciente, cheio de uma energia destruidora que tem de ser libertada. Pode estar prestes a começar à pancada. Perowne conhece alguma da literatura mais recente sobre violência. Nem sempre é uma patologia; alguns organismos sociais debruçados sobre si próprios consideram que por vezes é racional ser-se violento. As teorias de Thomas Hobbes são cada vez mais acarinhadas pelos estudiosos da teoria dos jogos e pelos criminologistas radicais. Controlar os desordeiros, os rufias, equivale ao famoso «poder comum» que mantém todos os homens sob domínio - um corpo dominante, um braço do estado, que recebe gratuitamente o monopólio do uso legítimo da violência. Mas nem os traficantes de droga nem os chulos, entre outros que vivem fora da lei, têm tendência para ligar o 112 para o Leviatã, preferindo resolver as suas disputas à sua maneira.
Perowne, quase trinta centímetros mais alto que Baxter, lembra-se de que, em caso de pancadaria, será melhor proteger os testículos. Mas é um pensamento ridículo; desde os oito anos que não se envolve em nenhuma luta corpo a corpo. Três contra um. Não permitirá, pura e simplesmente, que tal aconteça.
Imediatamente depois do aperto de mão, Baxter diz:
- Espero que esteja disposto a pedir-me sinceramente desculpa.
Olha para trás, para lá do Mercedes, para o seu carro, estacionado em diagonal no meio da rua. Atrás dele há uma linha irregular, a quase um metro do chão, traçada na parte lateral de meia dúzia de carros estacionados pelo puxador da porta do BMW. Basta que naquele momento apareça na rua o proprietário de um daqueles carros para se desencadear uma cascata de pedidos de indemnização às seguradoras. Henry, que sabe bem o que é a burocracia, está a sentir o trauma prolongado que ela provoca.
É muito melhor ser uma de muitas vítimas que o autor do pecado original.
- Na verdade, só lamento é que tenha arrancado sem ter olhado - diz Henry, surpreendido com aquele «na verdade» ligeiramente arcaico que habitualmente não faz parte do seu léxico. Utilizá-lo pressupõe algumas decisões; não quer pôr-se a falar caro em plena rua; quer apenas deixar bem visível a sua dignidade profissional.
Baxter pousa a mão esquerda sobre a direita, como que para a acalmar e diz pacientemente:
- Não precisava de olhar, pois não? Tottenham Court Road está fechada. Não estava à espera que viesse dali ninguém.
- As regras de trânsito mantêm-se em vigor - diz Perowne. - Além disso, foi um agente da polícia que me mandou passar.
- Um agente da polícia? - Baxter acentua a construção, dando-lhe uma sonoridade infantil. Volta-se para os amigos e pergunta: - Viram algum agente da polícia? - E depois, voltando-se de novo para Perowne, acrescenta com uma falsa boa educação: - Este é o Nark e este é o Nigel.
Até àquele momento estiveram os dois afastados para um dos lados, atrás de Baxter, a ouvir com um ar inexpressivo. Nigel é o da cara de cavalo. O seu companheiro pode ser um informador da polícia, um dependente de narcóticos ou, dado o seu aspecto comatoso, alguém com narcolepsia.
- Não há aqui nenhum polícia - explica Nigel. - Estão todos ocupados com essa pandilha dos manifestantes.
Perowne finge ignorar os dois homens. O seu problema é com Baxter.
- Temos de preencher a declaração do seguro. - Os três homens dão uma risada ao ouvir isto, mas ele continua. - Se não chegarmos a acordo sobre o que aconteceu.
temos de chamar a polícia. - Olha para o relógio. Jay Strauss já deve estar no court, a aquecer a bola. Ainda não é tarde de mais para resolver o assunto e pôr-se a caminho. Baxter não reagiu à referência ao telefonema. Em vez disso, tira o espelho lateral das mãos de Nigel e mostra-o a Perowne. As fissuras em teia de aranha do vidro mostram o céu em mosaicos brancos e de um azul irregular que lançam reflexos por causa da agitação da mão de Baxter. Diz num tom simpático:
- Felizmente para si, tenho um amigo que é bate-chapas e que leva barato. Mas trabalha bem. Acho que com umas setenta e cinco libras já me safo.
- Há um caixa automático ali à esquina - diz Nark, como se tivesse recobrado ânimo.
E Nigel, como se tivesse ficado agradavelmente surpreendido com a ideia, acrescenta:
- Pois é. Podemos ir consigo até lá.
Mudaram os dois de posição e estão quase, mas não completamente, a ladear Henry. Entretanto, Baxter chega-se para trás. As manobras são desajeitadamente deliberadas, como um bailado de crianças mal ensaiado. A atenção de Perowne, o seu olhar profissional, recai mais uma vez sobre a mão direita de Baxter. Não é apenas um tremor, é uma agitação nervosa que envolve praticamente todos os músculos. Especular sobre isso acalma-o, apesar de sentir os ombros dos dois homens exercerem uma ligeira pressão por sobre o seu casaco. Com alguma perversidade, já não considera correr grande perigo. É difícil levar aquele trio a sério; a ideia do caixa foi infantil, pura comédia. É como se tudo o que ali fora dito fosse uma citação de qualquer coisa que todos eles já tivessem visto muitas vezes e já quase tivessem esquecido.
Ao som de uma trombeta tocada por um conhecedor, os quatro homens voltam-se para verem a manifestação. É uma série de complexos staccatos, que terminam com uma nota aguda. Pode ser um trecho de uma cantata de Bach, porque Henry imagina imediatamente uma soprano com um ar doce e melancólico e, ao fundo, um violoncelo de apoio, tocado com formalidade. Em Gower Street, a ideia de uma marcha fúnebre de recriminação teve de ser abandonada. Era difícil manter milhares de pessoas numa coluna de centenas de metros. As palavras de ordem e os aplausos vão subindo e baixando de volume à medida que as diferentes secções de manifestantes vão passando pelo cruzamento com University Street. Baxter tem o olhar fixo na manifestação e o rosto ligeiramente distorcido, constrangido pela comiseração. Henry lembra-se de uma expressão de um texto, muito à semelhança do que aconteceu com a melodia da cantata - o aumento, mesmo que modesto, da sua adrenalina está a tornar o seu pensamento mais associativo que habitualmente. Ou então é a pressão da semana que passou que não o liberta dos seus hábitos, do jogo intelectual do diagnóstico. A expressão é um falso sentido de superioridade. Sim, pode ser uma ligeira alteração de carácter que antecede os primeiros tremores, um pouco menos incapacitante que outros problemas neurológicos, como a grandiosidade, a ilusão de grandeza. Mas pode não estar a lembrar-se bem. O seu campo não é a neurologia. Enquanto olha para os manifestantes, Baxter faz pequenos movimentos com a cabeça, pequenos acenos e sacudidelas. Ao observá-lo por alguns segundos, sem que ele note, Perowne compreende de repente - Baxter não consegue iniciar nem manter aqueles movimentos rápidos do olho entre um ponto de fixação e outro. Para ver a multidão, tem de mexer a cabeça.
Como que para confirmar esta observação, Baxter vira todo o corpo para Perowne e diz jovialmente:
- Que canalha horrorosa. Querem limpar a cara do país que odeiam.
Perowne sente que já percebeu o suficiente acerca de Baxter para concluir que é melhor pôr-se a andar. Afasta Nigel e Nark com os ombros e volta-se para o seu carro.
- Não vou dar-vos dinheiro - diz, com desdém. - Vou dar-lhe os meus dados. Se não quiser dar-me os seus, não faz mal. Basta-me a sua matrícula. Vou-me embora. - Depois acrescenta, fugindo um pouco à verdade - Estou atrasado para uma reunião importante.
No entanto, a maior parte da sua frase é obliterada por um único som, um grito de raiva.
No momento em que se vira, admirado, para Baxter e vê, ou sente, o que se dirige para ele a tanta velocidade, há ainda numa parte dos seus pensamentos alguém que faz um diagnóstico prosaico, distante e que nota a falta de autodomínio, instabilidade emocional, um temperamento explosivo, tudo isso sugestivo da diminuição dos níveis de GABA nos pontos de ligação adequados dos neurónios do estriado, o que por sua vez implica a presença reduzida de duas enzimas no estriado e no pálido lateral - a decarboxilase do ácido glutâmico e a acetilcolina-transferase. Há muita coisa nas relações humanas que pode ser explicada ao nível das moléculas complexas. Quem poderia alguma vez imaginar os danos infligidos ao amor e à amizade e a todas as esperanças de felicidade pelo excesso ou pela escassez deste ou daquele neurotransmissor? E quem iria descobrir uma moral ou uma ética entre as enzimas e os aminoácidos, quando a tendência geral é para olhar noutra direcção? No seu segundo ano em Oxford, Daisy, deslumbrada por um professor belo e louco, tentou convencer o pai de que a loucura era uma invenção social, um esquema inteligente pelo qual os ricos - nesse ponto pode ter percebido mal - espezinhavam os pobres. Pai e filha envolveram-se numa das suas acaloradas discussões, que terminou com Henry, numa jogada retórica, a propor à filha uma visita a um hospital psiquiátrico. Ela aceitou resolutamente e a questão foi esquecida.
Apesar da incapacidade de fixação ocular de Baxter e dos seus movimentos rápidos e nervosos, o soco dirigido ao coração de Perowne, e do qual este consegue desviar-se in extremis, acerta-lhe no esterno com uma força colossal - pelo menos é essa a sensação que ele tem, e talvez assim seja de facto- que faz irradiar por todo o seu corpo uma crispação, uma onda de choque, uma subida de tensão, um frémito violento, que parece transportar não tanto dor como um impulso eléctrico de estupefacção e um breve calafrio mortal com uma componente visual de cegueira, de uma brancura nívea.
- Muito bem - ouve Baxter dizer, como a dar uma instrução aos companheiros.
Agarram Henry pelos cotovelos e pelos antebraços e, quando a sua visão fica mais nítida, vê que está a ser empurrado para um espaço entre dois carros estacionados. Atravessavam rapidamente o passeio. Voltam-no, e fazem-no bater com as costas numa porta fechada com um cadeado num recanto. Henry vê na parede à sua esquerda uma placa de latão que diz «Saída de emergência, Spearmint Rhino». Ao cimo da rua há um pub, o Jeremy Bentham. Mas, se estiver aberto tão cedo, os clientes estão todos lá dentro, abrigados do frio. Perowne tem duas prioridades imediatas, que continuam a ser importantes quando recupera completamente a consciência. A primeira é manter a promessa que fez a si próprio de não ripostar. O murro serviu-lhe para ver como lhe falta perícia. A segunda é manter-se de pé. Já viu um número considerável de lesões cerebrais em pessoas que tiveram o azar de cair ao chão perante os seus agressores. O pé, como uma vila remota e atrasada, é uma província longínqua do cérebro, libertada de responsabilidades pela distância. Um pontapé é um gesto menos íntimo, menos envolvente que um murro, e um só pontapé nunca parece suficiente. Nos tempos épicos da violência no futebol, quando estava a fazer o estágio da especialidade, aprendeu muito sobre hematomas subdurais causados por pontapés com as biqueiras de aço dos sapatos Dos Martens.
Está voltado de frente para eles num pequeno recanto de tijolos caiados, bem longe da vista dos manifestantes. A estrutura amplifica o ruído áspero e desagradável da respiração deles. Nigel deita a mão ao casaco de Perowne e com a outra mão tenta tirar a carteira que está num bolso interior com um fecho de correr.
- Não - diz Baxter. - Não queremos o dinheiro dele.
Estas palavras levam Perowne a concluir que a defesa da honra vai ser feita através de uma boa sova. Repete-se a imagem que anteriormente teve em relação ao pedido de indemnização à seguradora: a perspectiva desoladora de várias semanas de dolorosa convalescença. Talvez até esteja a ser optimista. O olhar de Baxter está fixo nele, um olhar que não pode ser desviado sem que ele mexa a sua enorme cabeça rapada. O seu rosto é percorrido por pequenos tremores que não chegam a formar uma expressão. É uma agitação muscular que um dia - é essa a hipótese considerada por Perowne - se tornará atetóide, atormentada por movimentos involuntários e incontroláveis.
Há uma percepção no seio do trio de que é melhor fazer uma pausa para ganhar fôlego, para ganhar firmeza antes de passar à acção. Nark já está a cerrar o punho direito. Perowne repara que ele tem três anéis, no indicador, no dedo médio e no anelar, e pulseiras da largura de canos serrados. Restam-lhe alguns segundos. Baxter deve estar na casa dos vinte. Não é a altura indicada para lhe pedir que faça a história da família. Se um dos pais tiver a mesma doença, há cinquenta por cento de probabilidades de o filho também a ter. É o cromossoma quatro. O azar está num único gene, numa repetição excessiva de uma única sequência - CAG. É o determinismo biológico na sua forma mais pura. Mais de quarenta repetições desse pequeno trecho e fica-se condenado. O futuro fica determinado e é fácil de prever. Quanto mais prolongada for a repetição, mais precoce e mais grave será o início da doença. Entre
dez a vinte anos para completar o seu curso, entre as primeiras alterações de carácter, tremores nas mãos e no rosto, distúrbios emocionais, incluindo, de forma mais relevante, alterações de humor súbitas e incontroláveis, e os inevitáveis movimentos irregulares, a degradação intelectual, as falhas de memória, agnosia, apraxia, demência, perda total do controlo muscular, por vezes rigidez, alucinações semelhantes a pesadelos e um fim sem sentido. Assim, a brilhante maquinaria do ser é desfeita por um defeito na mais insignificante roda dentada, o murmúrio insidioso da degradação, uma única ideia má encerrada em todas as células, em todos os cromossomas quatro.
Nark está a puxar para trás o braço esquerdo para atacar. Nigel parece disposto a deixá-lo tomar a dianteira. Henry ouviu dizer que o aparecimento precoce da doença tende a responsabilizar o gene paterno. Mas talvez não seja assim. Não tem nada a perder em fazer uma conjectura. Fala sob a cólera do olhar de Baxter.
- O seu pai sofria disso. E agora você também sofre.
Por momentos vê-se como um curandeiro a proferir uma praga. É difícil avaliar a expressão de Baxter. Faz um movimento vago, febril, com a mão esquerda para refrear os companheiros. Há um momento de silêncio enquanto ele engole e se inclina para a frente, de testa franzida, como se quisesse suprimir uma obstrução da garganta. Perowne exprimiu-se de forma ambígua. Aquele «sofria» podia facilmente ter sido percebido como um «sofre». E quem sabe se o pai de Baxter, vivo ou morto, conheceria sequer o filho. Mas Perowne está a contar que Baxter saiba da doença que sofre. Se assim for, não terá dito a Nigel, nem a Nark, nem a nenhum dos seus amigos. É a sua vergonha secreta. Pode estar em processo de negação, sabendo sem querer saber; sabendo, mas preferindo não pensar nisso.
Quando finalmente Baxter fala, a sua voz está diferente, talvez cautelosa.
- Conheceu o meu pai.
- Sou médico.
- Uma merda é que é, assim vestido...
- Sou médico. Alguém lhe explicou o que lhe vai acontecer? Quer que eu lhe diga qual acho que é o seu problema?
Funcionou. A chantagem sem pudor resultou. Baxter fica subitamente irritado.
- Que problema? - Antes que Perowne possa responder, acrescenta furiosamente: - Importa-se de calar essa matraca? - Depois, com a mesma rapidez, acalma-se e dá meia volta. Estão juntos, ele e Perowne, num mundo não da medicina, mas da magia. Quando estamos doentes, não é aconselhável maltratarmos o xamã.
- O que é isto? O que é que o teu pai tinha? - pergunta Nigel.
- Cala-te.
O momento da tareia está a passar, e Perowne sente o poder a passar para si. Aquele recanto da saída de emergência é o seu consultório. A sua pequenez traz-lhe de volta o eco de uma voz que está a recuperar por inteiro o timbre da sua autoridade.
- Já falou com alguém sobre isso? - pergunta Henry.
- O que é que ele quer, Baxter?
Baxter atira o espelho partido para as mãos de Nark.
- Espera no carro.
- Estás a gozar!
- A sério. Vão os dois. Porra! Esperem no carro.
É dolorosamente evidente o desespero com que Baxter quer separar os amigos da pessoa que conhece o seu segredo. Os dois homens mais novos trocam um olhar e encolhem os ombros. Depois, sem olharem para Perowne, afastam-se em direcção à rua. É difícil imaginar que não lhes passe pela cabeça que Baxter tem um problema qualquer. Mas a doença está ainda numa fase inicial, e a sua progressão é lenta. Talvez não o conheçam há muito tempo. E aquele passo incerto, aquele curioso tremor,aqueles acessos arrogantes de mau génio e as variações de humor podem significar, no meio a que pertencem, que ele é um homem de personalidade forte. Quando chegam ao BMW, Nark abre uma das portas traseiras e atira o espelho lá para dentro. Depois encostam-se à parte da frente do carro, ao lado um do outro, a ver Baxter e Perowne, de braços cruzados, como polícias num filme. Perowne insiste com brandura:
- De que é que o seu pai morreu?
- Esqueça isso.
Baxter não olha para ele. Está agitado, com um ombro ligeiramente curvado, como uma criança amuada à espera de ser consolada, sem conseguir dar o primeiro passo. É este o principal sinal de muitas doenças neurodegenerativas - a rápida transição de um estado de humor para outro, sem que os que delas sofrem se dêem conta disso nem disso tenham memória e sem compreenderem qual a percepção que as outras pessoas têm disso.
- A sua mãe ainda é viva?
- Para mim, não.
- É casado?
- Não.
- O seu verdadeiro nome é Baxter?
- Isso é comigo.
- Tem razão. De onde é?
- Nasci em Folkestone.
- E onde é que vive agora?
- No antigo apartamento do meu pai. Em Kentish Town.
- Trabalha, estuda?
- Não me dei bem com a escola. O que é que você tem a ver com isso?
- E o que é que o seu médico disse da sua doença? Baxter encolhe os ombros. Mas reconheceu a Perowne
o direito de o interrogar. Voltaram cada um ao seu papel, e Perowne continua.
- Alguém lhe falou alguma vez da doença de Huntington?
Ouve-se um barulho ligeiro, seco, como pedras a chocalharem numa lata, vindo da manifestação. Baxter está a olhar para o chão. Perowne entende o seu silêncio como uma confirmação.
- Quer dizer-me quem é o seu médico?
- Porque é que eu havia de fazer isso?
- Podíamos encaminhá-lo para um colega meu. É bom médico. Podia tornar as coisas mais fáceis para si.
Ao ouvir isto, Baxter volta-se e inclina a cabeça na tentativa de fixar a imagem do homem mais alto na sua fóvea, a pequena depressão da retina onde a visão é mais aguda. Ninguém pode fazer nada em relação a uma lesão do sistema sacádico. Em geral, nem sequer há nada a fazer em relação à doença dele, a não ser ir tratando a degradação. Mas, naquele momento, Perowne detecta na expressão agitada de Baxter uma súbita avidez, uma fome de informação, ou até uma esperança. Ou talvez seja apenas uma necessidade de falar.
- Como?
- Com exercícios. Certos medicamentos.
- Exercícios... - repete a palavra com desdém. Tem razão ao notar a fatuidade, a fraqueza daquela ideia. Perowne insiste.
- O que é que o seu médico lhe disse?
- Disse que não há nada a fazer.
Di-lo como um desafio, como se reclamasse o pagamento de uma dívida; Perowne está a beneficiar de uma moratória, mas em troca disso tem de apresentar algum motivo de optimismo, senão mesmo uma cura. Baxter quer que ele desminta o seu médico.
- Acho que ele tem razão. Em finais dos anos noventa fez-se alguma investigação sobre a implantação de células estaminais, mas...
- Pois foi. O silenciamento dos genes. Talvez um dia. Quando eu já estiver morto.
- Está bem informado sobre a doença.
- Obrigado, doutor. Mas estava a falar de certos medicamentos?
Perowne conhece bem este impulso dos doentes para seguirem as mais pequenas pistas. Se houvesse algum medicamento, Baxter ou o seu médico conhecê-lo-iam. Mas Baxter tem necessidade de o confirmar. E tornar a confirmar. Pode ser que alguém saiba alguma coisa que ele não sabe. Numa semana pode haver um novo avanço. Quando neste campo já não há mais nada a dizer, os charlatões perfilam-se para o pior, propondo a dieta do caroço de damasco, a massagem da aura, o poder da oração. Perowne vê Nigel e Nark por cima do ombro de Baxter. Já não estão encostados ao carro, mas a andar de um lado para o outro à frente dele, a falar animadamente e a apontar para o cimo da rua.
- Estou a falar do alívio das dores, de ajuda em relação à perda de equilíbrio, aos tremores, à depressão.
Baxter move a cabeça de um lado para outro. Os músculos do seu rosto agitam-se isoladamente. Henry apercebe-se de que está próxima uma alteração de humor. Baxter não pára de murmurar para si próprio: «Foda-se!» Naquela fase transitória de perplexidade ou mágoa, as suas feições vagamente simiescas são atenuadas, quase atraentes. Parece inteligente e dá a impressão de, independentemente da doença, não ter tido grandes oportunidades na vida, ter cometido alguns erros graves e ter acabado em más companhias. Provavelmente desistiu de estudar há muito tempo e está arrependido disso. Não tem pais. E agora não poderia encontrar-se em pior situação. Não tem saída. Ninguém pode ajudá-lo. Mas Perowne sabe-se incapaz de compaixão. Há muito tempo que a experiência clínica lha fez perder. Além disso, uma parte dele está constantemente a calcular quando poderá sair em segurança daquele encontro. Por outro lado, não é caso para ter pena. O cérebro pode deixar-nos ficar mal de tantas formas...
À semelhança de um carro dispendioso, é algo de complexo, mas, ainda assim, produzido em massa, com mais de seis mil milhões de exemplares em circulação. Com toda a razão, Baxter acha que foi ludibriado e levado a prescindir de alguma violência, do exercício de algum poder e quanto mais pensa nisso mais furioso fica. Mais uma rápida mudança de tempo na sua mente. Aproxima-se uma nova frente depressiva, desta vez com turbulência. Pára de murmurar e aproxima-se o suficiente para Perowne sentir um odor metálico na sua respiração.
- Seu monte de merda - diz rapidamente, empurrando-o no peito. - Está a querer foder-me. À frente daqueles dois. Julga que me importo? Vá à merda. Vou chamá-los.
Do sítio onde se encontra, com as costas encostadas à saída de emergência, Perowne percebe que se aproxima mais um momento mau para Baxter, que volta as costas a Perowne e se dirige para o centro do passeio a tempo de ver Nigel e Nark afastarem-se do BMW em direcção a Tottenham Court Road.
Baxter dá uma pequena corrida para eles e grita:
- Ei!
Olham para trás, e Nark, com uma energia que não lhe é característica, faz-lhe um gesto insultuoso com o dedo. Continuam a andar, e Nigel mostra-lhe o seu desprezo com o punho. O general não teve capacidade de decisão, as tropas estão a desertar, a humilhação é total. Também Perowne vê a sua oportunidade perder-se. Atravessa o passeio, vai para a rua e dá a volta ao carro. As chaves estão na ignição. Quando põe o motor a trabalhar vê Baxter pelo espelho retrovisor, hesitante entre as diversas facções em debandada, a gritar para os dois lados. Perowne põe o carro a andar devagar. Por orgulho, não quer dar a impressão de que está com pressa. O seguro não tem qualquer importância e admira-se mesmo de lha ter dado. Vê a raqueta no banco da frente ao seu lado.
É o momento certo para se ir embora, enquanto ainda existe a possibilidade de salvar o seu jogo.
Depois de estacionar e antes de sair do carro telefona para o escritório de Rosalind - os seus dedos compridos ainda estão a tremer. Pressiona as teclas minúsculas de forma incerta. É um dia importante para ela, e não quer distraí-la com a história do seu quase acidente. Também não precisa de compaixão. Quer algo de mais fundamental, o som da sua voz numa troca quotidiana de palavras, o reatamento da sua existência normal. Pode haver algo mais tranquilizador e simples que marido e mulher a discutirem os pormenores do jantar dessa noite? Fala com uma estagiária que lhe diz que a reunião com o editor começou tarde e ainda está a decorrer. Pergunta-lhe se quer deixar recado, mas ele diz que volta a ligar mais tarde.
Não é habitual ver através das montras de vidro os courts de squash vazios num sábado. Passa ao lado deles, sobre a carpete azul com algumas nódoas, passa as enormes máquinas com Coca-Cola e tabletes energéticas, até que encontra o anestesista no último court, o número cinco, a bater a bola em toques rápidos e baixos contra a parede, com o aspecto de quem está a dar largas a um acesso de mau humor. Mas afinal só teve de esperar dez minutos. Mora do outro lado do rio, em Wandsworth; a manifestação obrigou-o a deixar o carro junto ao Festival Hall. Furioso por estar atrasado, atravessou a Ponte de Waterloo a correr e viu abaixo dele dezenas de milhares de pessoas no Enbankment em direcção a Parliament Square. Demasiado jovem para ter assistido aos protestos contra a Guerra do Vietname, disse que nunca tinha visto tanta gente no mesmo sítio. Apesar de ter as suas opiniões, sentiu-se comovido. Disse para si próprio que afinal aquilo era o processo democrático, por muitos inconvenientes que causasse. Ficou cinco minutos a ver e depois continuou o seu jogging por Kingsway, contra a corrente da multidão.
Descreveu tudo isto a Perowne enquanto, sentado no banco, este despia a camisola e as calças do fato de treino e punha num monte junto à parede a carteira, as chaves e o telefone - ele e Strauss nunca se empenham o suficiente para insistirem em terem um court só para eles.
- Bolas, eles não gostam do teu primeiro-ministro, mas odeiam o meu presidente.
Jay é o único médico americano que Perowne conhece que aceitou um enorme corte no salário e nos outros benefícios para trabalhar em Inglaterra. Diz que adora o sistema de saúde inglês. Também adorou uma inglesa, tiveram três filhos, divorciou-se dela, casou com outra beldade inglesa parecida com a primeira, mas doze anos mais nova que ele, tiveram mais dois filhos - ainda pequenos - e já vem o terceiro a caminho. Mas nem o seu respeito pela socialização da medicina nem o seu amor às crianças fazem dele um aliado da causa da paz. Na opinião de Perowne, a guerra que se avizinha não divide as pessoas de uma forma previsível; o facto de se conhecerem muitas opiniões não é um guia fiável. Para Jay, a questão é clara: a forma como as sociedades abertas lidarem com a nova situação mundial determinará até que ponto manterão a sua abertura. É um homem de certezas imperturbáveis, sem paciência para conversas sobre diplomacia, armas de destruição em massa, equipas de inspectores, provas de ligação à Al-Qaeda e por aí fora. O Iraque é um estado pária, um aliado natural dos terroristas, que fará inevitavelmente estragos, mais cedo ou mais tarde, e por isso mais vale ser atacado agora que as forças militares americanas andam mais ousadas, depois do Afeganistão. E quando diz «atacado» está a querer dizer libertado e democratizado. Os Estados Unidos têm de pagar o preço das suas políticas desastrosas no passado - pelo menos, têm essa dívida para com o povo iraquiano. Sempre que fala com Jay, Henry sente-se atraído pela facção contrária à guerra.
Strauss é um homem vigoroso, com os pés bem assentes na terra, um pouco atarracado, afectuoso, enérgico, directo - para alguns dos seus colegas ingleses torna-se cansativo por ser tão directo. Ficou completamente careca aos trinta anos. Passa mais de uma hora por dia no ginásio e tem um corpo de praticante de luta greco-romana. Quando está de volta dos seus doentes na sala de anestesia, a prepará-los para o esquecimento, eles sentem-se tranquilos com a visão dos músculos esculpidos dos seus braços, do seu pescoço e dos seus ombros fortes e com a forma como ele lhes fala - realista, alegre, sem paternalismo. Os doentes ansiosos acreditam que aquele americano atarracado seria capaz de dar a vida para lhes poupar sofrimento.
Trabalham juntos há cinco anos. Na opinião de Henry, Jay é a chave do sucesso da sua equipa. Quando as coisas correm mal, Strauss mantém a calma. Se, por exemplo, Henry for obrigado a cortar um grande vaso, Jay controla o tempo de uma forma tranquila e, para terminar, murmura:
- Tens um minuto, chefe. Depois saltas daí.
Nas raras ocasiões em que as coisas correm verdadeiramente mal, quando não há volta a dar, Strauss vai à procura dele mais tarde e, ao encontrá-lo sozinho num canto tranquilo do corredor, põe-lhe as mãos nos ombros, aperta-os ligeiramente e diz:
- Pronto, Henry, vamos lá falar agora do assunto. Antes que comeces a crucificar-te.
Não é a forma habitual de um anestesista falar com um cirurgião. Isso faz que Strauss tenha um exército de inimigos. Em certas comissões, Perowne já teve várias vezes de proteger as costas largas do seu amigo de algumas facadas. De vez em quando, dá consigo a dizer a Jay coisas do género:
- Não me interessa o que tu pensas. Vê se és simpático com ele. Lembra-te de que precisamos de fundos para o ano que vem.
Enquanto Henry faz alguns exercícios de alongamento, Jay volta para o court para manter a bola quente, fazendo algumas batidas à parede. Naquele dia os seus toques baixos parecem mais fortes, e a sequência de bolas rápidas tem de certeza a intenção de intimidar o adversário. Resulta. Perowne sente a reverberação do estalido da bola, semelhante à de um tiro, como uma opressão; sente uma rigidez que não é habitual no pescoço, quando empurra a mão esquerda contra o ombro direito. Levanta a voz para explicar a Strauss, através da porta de vidro aberta, a razão por que chegou atrasado, mas é um relato truncado, centrado sobretudo no risco no carro, na forma como o carro vermelho arrancou, obrigando-o a desviar-se, e nos estragos inesperadamente ligeiros da pintura. Não fala do resto, dizendo apenas que demorou algum tempo a resolver a situação. Não quer ouvir-se a si próprio a descrever Baxter nem os amigos. Strauss ficaria demasiado interessado e faria perguntas a que não lhe apetece responder ainda. Sente um desconforto cada vez maior em relação àquele encontro, uma inquietação que ainda não consegue definir, embora a culpa seja certamente um dos seus componentes.
Sente o joelho esquerdo dar um estalo ao alongar os tendões do joelho. Qual será a altura certa para desistir deste jogo? Quando fizer cinquenta anos? Ou antes? É melhor parar antes de fazer uma rotura num ligamento ou cair ao chão com o primeiro ataque cardíaco. Está a alongar os tendões da outra perna, e Strauss continua a bater as bolas rápidas. De repente, Perowne tem a sensação de que também a sua vida é frágil e preciosa. Os seus membros são como velhos amigos negligenciados, absurdamente longos e quebradiços. Estará ligeiramente em choque? O seu coração está certamente mais vulnerável depois daquele soco. Ainda lhe dói o peito. Tem para com os outros o dever de sobreviver e não pode pôr a sua vida em risco por causa de um simples jogo, de bater uma bola contra uma parede. E um jogo calmo de squash é coisa que não existe, sobretudo com Jay. Sobretudo com ele próprio. Ambos odeiam perder. Quando começam a jogar disputam os pontos como dois loucos. Devia pedir desculpa e ir-se embora agora, correndo o risco de irritar o amigo. Um preço despiciendo. Quando se levanta, Perowne apercebe-se de que aquilo que realmente lhe apetece é ir para casa e deitar-se no quarto a pensar sobre o que aconteceu em University Street, sobre a forma como devia ter lidado com a situação e o que correu mal.
Mas, no próprio momento em que está a pensá-lo, está também a pôr os óculos de protecção, a saltar para o court e a fechar a porta atrás de si. Ajoelha-se para pôr as suas coisas de valor num canto junto da parede. Não tem força de vontade para interromper a força do quotidiano, de um jogo de squash num sábado de manhã com um amigo e colega. Está do lado de fora do court, Strauss atira uma bola rápida, amigável, para o centro e Perowne devolve-a imediatamente pelo mesmo caminho. Este simples movimento lança-os na rotina familiar do aquecimento. Falha a terceira bola, acertando-lhe com força com o metal da raqueta. Alguns toques depois pára para apertar os atacadores. Não consegue acalmar-se. Sente-se lento e preso, não está a agarrar bem na raqueta, não está alinhado, as bolas são demasiado abertas ou demasiado fechadas, não sabe. Entre as batidas ajeita a raqueta. Ao fim de quatro minutos ainda não fizeram uma jogada decente. O ritmo fácil que normalmente os projecta no jogo está ausente. Repara que Jay abranda o ritmo e lhe oferece a bola em ângulos mais fáceis para a manter em jogo. Por fim, Perowne sente-se obrigado a dizer que está pronto. Como perdeu o jogo da semana anterior - foi esse o acordo que fizeram -, é ele a servir.
Ocupa a sua posição no lado direito da caixa de serviço. Atrás dele, do outro lado do court, ouve Jay murmurar «OK». O silêncio é total, com aquele sibilar raramente ouvido numa cidade; não há mais ninguém a jogar, não se ouve o barulho da rua, nem sequer da manifestação. Durante dois ou três segundos, Perowne olha para a bola preta compacta que tem na mão esquerda, esforçando-se por limitar a amplitude dos seus pensamentos. Faz um lançamento alto, bem colocado, que descreve um arco demasiado alto para um lançamento, e a bola bate na parede e retrocede. No preciso momento em que a bola parte, Perowne tem consciência de que a bateu com demasiada força. A bola retrocede da parede com alguma força residual, dando muito espaço a Jay para a bater para bem longe. A bola bate num canto, retrocede e Perowne apanha-a.
Quase sem pausa, Jay pega na bola para servir do lado direito. Perowne, percebendo o estado de espírito do adversário, fica à espera de uma batida com o braço por cima do ombro e inclina-se para a frente, preparado para bater na bola antes que ela atinja a parede lateral. Mas Strauss também fez os seus cálculos quanto a estados de espírito. Bate a bola suavemente, quase em ângulo recto ao ombro direito de Perowne. É o lançamento perfeito para um adversário indeciso. Chega-se para trás, mas tarde de mais e não o suficiente, e, meio confuso, perde a bola de vista. Bate-a para a frente do court, e Strauss responde com força, lançando-a para o canto do lado direito. Estão a jogar há menos de um minuto, Perowne perdeu o serviço, tem um ponto a menos e sabe que já perdeu o controlo. E o jogo continua assim, imparável durante os próximos cinco pontos, com Jay instalado no centro do court, e Perowne, confuso e defensivo, sem tomar qualquer iniciativa.
Aos seis a zero, Strauss comete finalmente um erro espontâneo. Perowne faz o mesmo lançamento alto, mas desta vez a bola bate na parede do fundo. Strauss tenta cortá-la, mas a bola bate na linha mais próxima e Perowne fica espantado com o afundanço que consegue fazer. Esse pequeno assomo de euforia permite-lhe concentrar-se.
Faz os três pontos seguintes sem problemas e no último bate a bola antes de ela tocar no chão e ouve Jay praguejar contra si próprio enquanto se dirige para o fundo do court. Agora a autoridade mágica e todas as iniciativas pertencem a Henry. Apoderou-se do centro do court e está a obrigar o adversário a correr da frente para trás. Ao fim de pouco tempo já está a ganhar por sete seis e tem a certeza de que vai fazer os dois pontos seguintes. No preciso momento em que o pensa faz o lançamento descuidado que atravessa o court e que Strauss corta, atirando a bola para o canto com uma batida impecável. Perowne consegue resistir à tentação de se odiar a si próprio, enquanto se dirige para o lado esquerdo do court para receber o serviço. Mas quando a bola se dirige para ele a sua concentração é abalada por pensamentos indesejados. Vê a figura patética de Baxter pelo espelho retrovisor. Era precisamente nesse momento que devia ter avançado para apanhar a bola antes de ela bater no chão - podia ter-se esticado para a bater, mas hesitou. A bola bate na junção entre a parede e o chão e rola de forma insultuosa sobre o seu pé. Foi um golpe de sorte e, no seu estado de irritação, apetece-lhe dizê-lo. Sete igual. Até ao fim não há qualquer luta. Perowne sente que se desloca no meio de um nevoeiro mental, e Jay faz os últimos dois pontos em rápida sucessão.
Nenhum deles tem quaisquer ilusões em relação ao jogo. São jogadores mais ou menos decentes, ambos à beira dos cinquenta. Combinaram que entre jogos - jogam à melhor de cinco - fazem um intervalo para que o seu ritmo cardíaco volte ao normal. Às vezes até se sentam no chão. Hoje o primeiro jogo não foi muito cansativo, por isso andam calmamente de um lado para o outro do court. O anestesista quer saber como está Andrea Chapman. Teve de fazer um esforço para ser amigável com ela. Os modos desabridos da rapariga não se coadunavam com a conversa que Perowne, ao passar no corredor, ouviu Strauss a ter com ela.
O anestesista fora à enfermaria para se apresentar e dera com uma enfermeira filipina lavada em lágrimas por qualquer coisa que ela lhe tinha dito. Strauss sentou-se na cama e encostou a cara à da rapariga.
- Ouve, querida. Se queres que a gente te conserte a cabeça, tens de nos ajudar. Estás a ouvir? Se não queres que a gente ta conserte, podes ir para casa e levar a tua má educação contigo. Temos muitos doentes à espera da tua cama. As tuas coisas estão aqui no armário. Queres que comece a metê-las no saco? Está bem. Aqui vai. Escova de dentes, discman, escova do cabelo... Não? Então como é que vai ser? Muito bem. Vou tirar tudo outra vez. Não, olha, estou mesmo a tirar tudo. Se nos ajudares, nós ajudamos-te. Combinado? Vamos lá dar um aperto de mão.
Perowne informa-o de que ela está melhor.
- Gosto da miúda - diz Jay. - Faz-me pensar em mim quando tinha a idade dela. Chateava toda a gente. Podia acalmar-se. Podia fazer qualquer coisa por ela própria.
- Ela vai-se safar desta - diz Perowne, posicionando-se para receber. - Pelo menos, se quiser estampar-se, a decisão será dela. Vamos.
Falou cedo de mais. Jay serviu, mas a palavra «estampar-se» trouxe-lhe memórias da manhã e fragmentou-se numa dezena de associações. De repente lembra-se de tudo o que lhe aconteceu ultimamente. A praça gelada e deserta, o avião com o seu trilho de fogo, o seu filho na cozinha, a sua mulher na cama, a sua filha a caminho, vinda de Paris, os três homens na rua - ou está nas coordenadas temporais erradas ou está em todas ao mesmo tempo. A bola apanha-o de surpresa; é como se por momentos tivesse saído do court. Apanha a bola tarde de mais, agarrando-a quase no chão. Strauss dá imediatamente um salto do T para uma batida mortífera. Ou seja, o segundo jogo começa exactamente como o primeiro. Mas desta vez Henry vai ter de correr muito para perder.
Jay está disposto a deixar o jogo avançar sem pontos, enquanto avança para o centro do court, salta para trás, se inclina para a frente e estuda os ângulos das suas batidas. Perowne corre à volta do seu adversário como um pónei no circo. Inclina-se para trás para desviar as bolas dos cantos do fundo, depois estica-se para a frente para apanhar as bolas baixas. A constante mudança de direcção da bola deixa-o tão cansado como o crescente ódio por si próprio. Porque se ofereceu, porque chegou a antever com prazer aquela humilhação, aquela tortura? É em momentos de um jogo como aquele que os aspectos essenciais do seu carácter vêm ao de cima - tacanho, ineficaz, estúpido -, também moralmente. O jogo torna-se uma longa metáfora dos seus defeitos de carácter. Todos os erros que comete são tão profundamente, tão irritantemente típicos em si próprio, tão instantaneamente familiares, quase uma assinatura, como uma cicatriz ou uma deformação num sítio privado. Tão íntimos e esclarecedores como a sensação da sua língua dentro da boca. Só ele pode enganar-se assim e só ele merece perder daquela forma. À medida que vai perdendo pontos vai buscar a energia que lhe resta a um charco de fúria.
Não diz nada, nem a si próprio nem ao seu adversário. Não permitirá que Jay o ouça praguejar. Mas o silêncio é outra maneira de sofrer. O resultado está em oito três. Jay lança uma bola através do court, talvez por engano, porque a bola fica solta, disponível para ser interceptada. Perowne vê que tem ali uma oportunidade. Se conseguir apanhá-la, Jay ficará fora de posição. Consciente disso, Jay avança para o centro do court, bloqueando o caminho a Perowne. Perowne pede imediatamente um let. Param, e Strauss volta-se e exprime a sua surpresa.
- Estás a gozar?
- Caraças! - diz Perowne, com uma respiração furiosa e apontando com a raqueta no sentido para onde se dirigia. - Puseste-te à minha frente.
Ambos ficam surpreendidos com aquela linguagem. Strauss cede imediatamente.
- Pronto, está bem, é um let.
Ao dirigir-se para a caixa de serviço, Perowne tenta acalmar-se e pensa que, com um resultado de oito três e já com um jogo de vantagem, é uma indelicadeza de Jay questionar um apelo tão óbvio. «Indelicadeza» até é um termo delicado. Esse pensamento não o ajuda a fazer o serviço que precisava de fazer pois é a sua última oportunidade de voltar ao jogo. A bola afasta-se tanto da parede que Jay não tem qualquer problema em dar um salto para a esquerda e apanhá-la sem ter de mudar de mão. É ele a servir, e o jogo acaba passado meio minuto.
Neste momento a perspectiva de passar alguns minutos na conversa no court é insuportável para Henry. Pousa a raqueta, tira os óculos e diz entre dentes que tem de ir beber água. Deixa o court e vai ao vestiário, onde há um bebedouro. Não está lá ninguém a não ser alguém que não se vê e que está a tomar duche. Na parede há uma televisão sintonizada para um canal de notícias. Molha a cara no lavatório e descansa a cabeça nos braços. Sente o coração a bater nos ouvidos, o suor escorre-lhe pelas costas, tem a cara e os pés a escaldar. Só quer uma coisa na vida. Tudo o resto deixou de interessar. Tem de ganhar a Strauss. Tem de ganhar três jogos seguidos para ganhar o set. É incrivelmente difícil, mas de momento não consegue desejar nem pensar em mais nada. Tem um ou dois minutos a sós para pensar cuidadosamente sobre o seu jogo, concentrar-se no principal, decidir o que está a fazer de errado e alterá-lo. Já ganhou muitas vezes a Strauss. Tem de deixar de estar zangado consigo próprio e de pensar no jogo.
Quando levanta a cabeça vê no espelho do lavatório, para lá do seu rosto vermelho, o reflexo da televisão sem som que está atrás de si, mostrando as mesmas imagens do avião de carga na pista. Depois, por instantes, como a espicaçar a curiosidade, dois homens de casaco por cima da cabeça - os pilotos, de certeza - a serem levados, de algemas, para uma carrinha da polícia. Foram presos. Aconteceu qualquer coisa. Um jornalista fala para a câmara à porta de uma esquadra da polícia. Depois o pivot fala com o jornalista. Perowne muda de posição para deixar de ver o ecrã. Não será possível ter um momento de lazer sem aquela invasão, sem aquele contágio do domínio público? Começa a ver a questão resolver-se em termos simples: ganhar o jogo será uma afirmação da sua privacidade. Tem o direito, tanto neste momento como durante o jogo - é um direito que assiste a toda a gente -, de não ser perturbado pelos acontecimentos mundiais, nem sequer por coisas que acontecem na rua. Ao acalmar-se no vestiário, Perowne tem a sensação de que esquecer, apagar todo um universo de fenómenos públicos para se concentrar é uma liberdade fundamental. Liberdade de pensamento. Irá emancipar-se derrotando Strauss. Agitado, anda de um lado para o outro entre os bancos do vestiário, desviando os olhos de um adolescente assustadoramente obeso, mais baleia que ser humano, que sai do duche sem toalha. Não tem muito tempo. Tem de organizar o jogo em torno de uma táctica simples - aproveitar as fraquezas do adversário. Strauss só tem um metro e cinquenta e dois, não tem grande alcance e os seus lançamentos não são brilhantes. Perowne decide-se por lançamentos altos para os cantos da retaguarda. Tão simples como isso. Jogar alto para trás.
Quando regressa ao court o anestesista vem imediatamente ter com ele.
- Sentes-te bem, Henry? Estás chateado?
- Estou. Comigo próprio. Mas ter de discutir aquele let não ajudou nada.
- Tinhas razão. Fiz asneira. Desculpa. Estás pronto? Perowne está na posição de recepção, concentrado no ritmo da sua respiração, preparado para um único movimento, eventualmente um movimento-padrão: vai bater a bola antes de ela tocar na parede lateral e, depois de Strauss a bater, irá até ao T do centro do court e jogará a bola por alto. É simples. Está na hora de tirar Strauss do pódio.
- Estou pronto.
Strauss lança uma bola rápida que, mais uma vez, parece dirigida ao seu corpo, directamente ao ombro. Perowne consegue acertar com a raqueta na bola, que segue mais ou menos o percurso que ele queria e agora está em posição no T. Strauss apanha a bola no canto, e ela vem ao longo da mesma parede lateral. Perowne avança e torna a golpear a bola, que é batida mais algumas vezes pela parede do lado esquerdo até que Perowne consegue arranjar espaço atrás de si para a levantar para o canto do lado direito. Jogam ao longo de toda essa parede em vários movimentos directos, entrando e saindo do trajecto um do outro, e depois interceptam bolas por todo o court, com a vantagem a passar ora para um, ora para o outro.
Já tiveram outros jogos como aquele - desesperados, loucos, mas também hilariantes, como se a verdadeira contenda fosse ver quem cede primeiro de tanto rir. Mas desta vez é diferente. É desprovido de humor, é mais demorado e mais desgastante, pois dois corações com aquela idade não podem estar a bater a cento e oitenta pulsações por minuto durante muito tempo e em breve um deles vai ficar cansado e começar a atrapalhar-se. E, naquele jogo meramente social, sem espectadores, algo absurdo, os dois homens estão possuídos pela urgência de fazerem um ponto. Apesar do pedido de desculpas, o let da discórdia continua entre eles. Strauss deve ter adivinhado que Perowne esteve a concentrar-se no vestiário. Se conseguir resistir ao seu ataque, ele ficará rapidamente desmoralizado e Strauss poderá ganhar o jogo em três sets seguidos. Quanto a Perowne, a questão está nas regras do jogo; enquanto não ganhar o serviço, não pode começar a fazer pontos.
Numa longa série de jogadas, é possível uma pessoa tornar-se virtualmente inconsciente, reduzindo-se à fatia mais estreita do presente, limitando-se a reagir, concentrando-se num toque de cada vez, existindo apenas para continuar a jogar. Perowne já atingiu esse estado e está completamente mergulhado no jogo quando se lembra de que delineou um plano de jogo. Nessa preciso momento, a bola bate no chão a pouca distância dele, e Perowne consegue apanhá-la e batê-la para o canto esquerdo traseiro. Strauss levanta a raqueta para interceptar a bola e depois muda de ideias e corre para trás. Lança a bola para longe, e Perowne corre para a apanhar. É difícil correr de um canto ao outro para apanhar a bola quando se está cansado. De cada vez que acerta na bola, Strauss geme um pouco mais alto, e Perowne sente-se encorajado. Resiste ao kill shot, porque acha que vai falhar. Em vez disso, continua a jogar bolas altas, cinco vezes seguidas, para cansar o adversário. Consegue o ponto ao quinto toque, quando a bola sem força de Strauss acerta na chapa.
Zero igual. Pousam as raquetas e ficam dobrados, sem fôlego, de mãos nos joelhos, a olhar para o chão sem verem nada, ou então encostam a cara e as palmas das mãos às paredes brancas para se refrescarem ou deambulam sem destino pelo court, limpando a testa com as t-shirts e gemendo. Noutras alturas estariam a analisar aquele ponto, mas naquele dia nenhum deles fala. Ansioso por forçar o ritmo, Perowne declara-se pronto primeiro e espera na caixa de serviço, batendo a bola no chão. Serve por cima da cabeça de Strauss, e a bola, agora mais fresca e menos rígida, vai parar a um canto. Um zero, sem qualquer esforço. Pode ser este, e não o anterior, o ponto importante. Agora Perowne tem a seu favor a sua altura e a sua envergadura. O ponto seguinte é dele, e o outro também. Strauss está a ficar exasperado por uma série de serviços idênticos e, como as jogadas são rápidas e entrecortadas, a bola mantém-se fria e inerte, difícil de interceptar num espaço pequeno. À medida que vai ficando mais aborrecido, Jay vai perdendo competência. Não consegue apanhar a bola no ar, não consegue apanhá-la por baixo quando vai a cair. Há dois serviços de que se limita a desviar-se e vai para a caixa esperar pelo seguinte. É a repetição, o mesmo ângulo, a mesma altura impossível, a mesma bola sem vida que está a enervá-lo. Em pouco tempo, perde seis pontos.
Perowne está morto por se rir às gargalhadas - um impulso que disfarça tossindo. Não pretende vangloriar-se, não se sente triunfante - é demasiado cedo para isso. É o prazer do reconhecimento, um riso complacente. Está divertido porque sabe exactamente o que Strauss está a sentir: está demasiado familiarizado com a espiral descendente de irritação e inépcia, os pequenos transes da aversão por si próprio. É hilariante reconhecer como as imperfeições de outra pessoa são tão parecidas com as nossas. Sabe também como o seu serviço é irritante. Ele próprio não seria capaz de lhe reagir. Mas Strauss foi impiedoso quando estava a ganhar, e Perowne precisa dos pontos. Por isso continua, lançando a bola por cima da cabeça do adversário, cruzando-a o necessário para ganhar o jogo. Nove zero.
- Tenho de ir à casa de banho - diz Jay de forma concisa, ainda com os óculos postos e a raqueta na mão.
Perowne não acredita nele. Apesar de achar que é uma medida sensata, a única forma de interromper a hemorragia de pontos, e de ele próprio ter feito a mesma coisa há menos de dez minutos, sente-se enganado. Com o seu serviço enfurecedor, podia ganhar também o set seguinte. Strauss deve estar agora a arrefecer a cabeça sob a torneira e a repensar o seu jogo.
Henry resiste à tentação de se sentar. Em vez disso, sai do court para ir espreitar os outros jogos - está sempre à espera de aprender alguma coisa com jogadores de maior classe. Mas naquele dia o clube está deserto.
Ou os seus membros estão na manifestação contra a guerra ou não conseguiram descobrir caminho pelo centro de Londres. Ao regressar ao seu court levanta a t-shirt para observar o peito. Tem uma enorme nódoa negra do lado esquerdo do esterno. Dói-lhe quando estica o braço esquerdo. O facto de estar a olhar para aquela mancha na pele ajuda-o a centrar os seus pensamentos agitados em Baxter. Será que ele, Henry Perowne, teve uma atitude pouco profissional ao utilizar os seus conhecimentos médicos para debilitar um homem com uma doença neurodegenerativa? Teve. A ameaça de uma tareia pode ser aceite como desculpa? Pode, não pode, não inteiramente. Mas aquele hematoma, da cor de uma beringela e do diâmetro de uma ameixa - só uma pequena amostra do que podia ter-lhe acontecido - significa que está desculpado. Só um louco teria ficado ali parado a levar uma tareia quando havia uma saída. Então o que está a perturbá-lo? É estranho, mas, apesar de toda a violência, quase gostou de Baxter. Não, isso é forte de mais. Ficou intrigado com ele, com a sua situação desesperada e a sua recusa em desistir. E havia nele igualmente um conhecimento real dos factos e o desânimo por estar a seguir por caminhos errados na vida. E ele, Henry, fora obrigado, ou mesmo forçado, a abusar do seu próprio poder, embora tenha sido Baxter a permitir-lhe colocar-se nessa posição. A sua atitude fora errada desde o princípio, insuficientemente defensiva; pode ter dado a sensação de estar a ser pomposo ou desdenhoso. Ou, quem sabe, provocador. Podia ter sido mais simpático, ter até aceite o cigarro; devia ter-se descontraído, ter abdicado daquela posição de força e, em vez disso, fora indigno e combativo. Por outro lado, eles eram três, queriam o dinheiro dele, estavam ansiosos por violência, já estavam a planeá-la antes de saírem do carro. O facto de o espelho lateral se ter partido era uma desculpa para uma agressão. Volta ao court, com o mesmo constrangimento, no momento em que Strauss aparece.
Os seus ombros largos estão molhados por causa do intervalo junto ao lavatório e o seu bom humor está de volta.
- Muito bem - diz quando Perowne se dirige para a caixa do serviço. - Agora é a doer.
Perowne sente que o facto de ter ficado a sós com os seus pensamentos o deixou um pouco incapacitado; antes de servir recorda o seu plano de jogo. Mas o quarto jogo não segue um padrão óbvio. Faz dois pontos, depois Strauss entra melhor no jogo e fica em vantagem com três dois. Há jogadas longas, fragmentadas, com erros espontâneos de ambos os lados, até que o resultado chega a um empate a sete pontos, sendo Perowne a servir. Faz os últimos dois pontos sem qualquer problema. Dois jogos para cada um.
Fazem um intervalo rápido para se prepararem para a batalha final. Perowne não está cansado - ganhar jogos é menos exigente em termos físicos do que perdê-los. Mas sente-se esgotado por aquele desejo feroz de derrotar Jay e não se importaria nada de ficar pelo empate e ir-se embora. A sua manhã tem sido toda ela uma forma de combate. Mas não tem hipótese de desistir. Strauss está a desfrutar do momento, a jogar com empenho e, no momento em que se dirige para a sua posição, diz «Lutar até à morte!» e «No pasaran!»
Assim, reprimindo um suspiro, Perowne serve e, como está sem ideias, cai no mesmo padrão de bolas altas. Aliás, no momento em que bate a bola sente que foi quase perfeito, uma bola alta exactamente dirigida para o canto. Mas o estado de espírito de Strauss é peculiar, está muito entusiasmado, e faz uma coisa extraordinária. Com um pequeno salto em corrida, eleva-se talvez sessenta centímetros, ou quase um metro, e, com a raqueta completamente esticada, as suas costas fortes, musculadas num arco gracioso, os dentes cerrados, a cabeça inclinada para trás e o braço esquerdo levantado para ajudar ao equilíbrio, apanha a bola antes de ela atingir o ponto mais alto da sua trajectória com uma pancada quase de chicote que a desvia para a parede da frente, a não mais de um metro da chapa - uma jogada maravilhosa, inspirada, inigualável. Perowne, que quase nem se mexeu do lugar onde estava, di-lo instantaneamente. Uma jogada fabulosa. De repente, com o serviço nas mãos do seu adversário, sente de novo o desejo de ganhar.
Ambos elevam a qualidade do jogo. Agora cada ponto é um drama, uma curta encenação com trocas rápidas, e toda a intensidade e fúria da longa jogada do terceiro jogo regressa ao court. Sem prestarem atenção aos protestos dos seus corações, percorrem rapidamente todos os cantos do court. Não há erros fortuitos, cada ponto é disputado, tirado à força ao outro. O que vai servir diz, ofegante, o resultado, mas tirando isso ninguém diz mais nada. E o jogo vai avançando, sem que nenhum consiga ter mais de um ponto de vantagem. Não há nada em jogo - não estão a disputar nenhum lugar no clube. Há apenas a vontade irredutível de ganhar, tão biológica como a sede. E é uma vontade pura, pois não há ninguém a ver, ninguém que se interesse, nem os amigos, nem as mulheres, nem os filhos. Nem sequer dá prazer. Talvez venha a dar, visto em retrospectiva - mas apenas para o vencedor. Se alguém parasse junto à parede de vidro da retaguarda, pensaria de certeza que aqueles jogadores já idosos tinham sido famosos no seu tempo e agora ainda tinham algum dinamismo. Pensaria também se não seria um jogo de desforra, tamanho era o desespero e a tensão dos jogadores.
Dez minutos de jogo parecem demorar meia hora. Aos sete igual, é Perowne que serve da caixa de serviço do lado esquerdo e ganha o ponto. Atravessa o court. Está concentrado e confiante e por isso o seu serviço é bom e forte e dirigido a um ângulo apertado, perto da parede. Strauss intercepta a bola com uma pancada quase de ténis, fazendo-a cair na parte da frente do court. É uma boa jogada, mas Perowne está em posição e inclina-se para a frente, apanhando-a quando vai a subir e atirando-a para o canto traseiro do lado esquerdo. Fim do jogo e vitória.
No momento em que joga a bola, dá um passo para trás - e choca com Strauss. É um encontrão forte, que obriga os dois a dobrarem-se e os faz ficar por instantes incapazes de falar.
Depois Strauss diz, num tom tranquilo, mas por entre uma respiração ruidosa:
- É ponto para mim, Henry.
- Acabou, Jay. Três jogos a dois.
Tornam a fazer uma pausa para avaliar a dimensão desta diferença calamitosa.
- O que é que estavas a fazer na parede da frente? - pergunta Perowne.
Jay afasta-se, dirigindo-se para a zona onde receberá o serviço se retomarem o jogo. Quer despachar o assunto, à sua maneira.
- Pensava que ias atirar a bola para baixo para a direita - responde.
Henry tenta sorrir. Tem a boca seca, e os lábios não deslizam facilmente sobre os dentes.
- Quer dizer que te enganei. Estavas fora de posição. Não podias tê-la apanhado.
O anestesista abana a cabeça com a calma prosaica que tanto tranquiliza os seus doentes. Mas o seu peito mostra que a sua respiração está acelerada.
- A bola ressaltou na parede do fundo. Vinha com muito balanço. Estavas mesmo no meu caminho, Henry.
Aquela utilização do primeiro nome um do outro está cheia de veneno. Henry não consegue resistir a isso. Fala como se quisesse lembrar a Strauss um facto há muito esquecido.
- Mas, Jay, tu nunca podias ter apanhado aquela bola. Strauss olha Perowne nos olhos e diz-lhe calmamente:
- Podia, Henry.
A injustiça da afirmação é tão flagrante que Perowne só consegue repetir-se:
- Estavas fora de posição.
- Isso não é contra as regras - diz Strauss, acrescentando depois - Vá lá, Henry. Da última vez dei-te o benefício da dúvida.
Com que então está a cobrar uma dívida. O tom racional de Perowne torna-se ainda mais difícil de manter.
- Não havia dúvidas - diz rapidamente.
- Claro que havia.
- Olha, Jay. Isto não é fórum sobre a igualdade de oportunidades. Temos de dar ao caso a importância que merece.
- Concordo. Não é preciso nenhum sermão.
A pulsação de Perowne, que estava a estabilizar, torna a aumentar com a resposta de Strauss. Um momento de raiva súbita é como um batimento cardíaco a mais, um ataque de arritmia inútil. Tem mais que fazer. Tem de passar pela peixaria, ir para casa, tomar duche, voltar a sair, regressar a casa, fazer o jantar, abrir o vinho, receber a filha e o sogro, pô-los de bem um com o outro. Mas, mais do que isso, precisa do que já é seu; recuperou de uma desvantagem de dois jogos e acredita que demonstrou a si próprio algo que é essencial à sua própria natureza, algo que ultimamente esquecera. Algo que agora o seu adversário quer roubar-lhe ou negar-lhe. Pousa a raqueta no canto onde estão as suas coisas para mostrar que o jogo acabou. Da mesma forma, Strauss mantém-se resolutamente na caixa de serviço. Nunca lhes aconteceu nada assim. O problema será com outra coisa qualquer? Jay está a olhar para ele com um sorriso discreto e complacente, com os lábios cerrados, uma expressão inteiramente artificial, destinada a reforçar a sua posição. Henry imagina-se, e o seu ritmo cardíaco aumenta outra vez por causa desse pensamento, a atravessar o parquet em quatro passadas para desfazer aquela expressão complacente com uma bofetada rápida. Também podia encolher os ombros e ir-se embora do court. Mas a sua vitória perderá o significado sem a aprovação do adversário. Pondo as fantasias de parte, como podem eles resolver o assunto, sem árbitro, sem um poder reconhecido por ambos?
Há meio minuto que nenhum deles fala. Perowne afasta as mãos e diz num tom tão artificial como o sorriso de Strauss:
- Não sei o que hei-de fazer, Jay. Só sei que ganhei. Mas Strauss sabe exactamente o que tem a fazer. Sobe a parada.
- Henry, tu estavas voltado para a frente. Não viste a bola a ressaltar na parede de trás. Eu vi porque estava a dirigir-me para lá. Por isso, a questão é esta: estás a chamar-me mentiroso?
E é assim que termina.
- Vai à merda, Strauss - diz Perowne, pegando na raqueta e dirigindo-se para a caixa de serviço.
Jogam o let, Perowne serve e, tal como suspeitava que pudesse acontecer, perde não só esse ponto como os três seguintes e, quase sem dar por isso, o jogo acaba, perdeu e vai ao canto onde estão as suas coisas e apanha a carteira, o telemóvel, as chaves e o relógio. Fora do court, veste as calças, prende-as com o cordel, põe o relógio, veste a camisola e o casaco. Está aborrecido, mas menos do que há dois minutos. Volta-se para Strauss que vem a sair do court:
- Jogaste muito bem. Lamento a discussão.
- Esquece essa merda. Qualquer de nós podia ter ganho. Foi um dos nossos melhores jogos.
Guardam as raquetas nos estojos, que põem ao ombro. Livres de linhas vermelhas, do branco ofuscante das paredes e das regras do jogo, vão até à máquina da Coca-Cola que fica ao lado dos courts. Strauss compra uma lata. Perowne não quer. É preciso ser-se americano para, em adulto, gostar de uma coisa tão doce.
Quando saem do edifício, Strauss pára para beber e diz:
- Está toda a gente a ficar com gripe, e hoje à noite estou de serviço.
- Já viste a lista da próxima semana? - pergunta Perowne. - É outra vez tramada.
- Pois é. Aquela velhota com o astrocitoma. Não se vai safar, pois não?
Estão parados nos degraus que descem até ao passeio de Huntley Street. Agora há mais nuvens, e o ar está frio e húmido. É bem possível que caia uma chuvada em cima da manifestação. A senhora chama-se Viola e tem um tumor na região pineal. Tem setenta e oito anos e nos anos sessenta trabalhou como astrónoma no Observatório de Jodrell Bank. Na enfermaria, enquanto os outros doentes vêem televisão, lê livros de matemática e sobre a teoria dos filamentos. Apercebendo-se da menor luminosidade, da penumbra do final de uma manhã de Inverno, e sem querer contribuir para um ambiente de desânimo, como para uma maldição, Perowne diz:
- Acho que vamos poder ajudá-la. Compreendendo-o, Strauss faz uma careta, levanta a mão em sinal de despedida, e cada um segue o seu caminho.
De regresso à privacidade confortável do seu carro amolgado, com o motor a trabalhar sem ruído numa Huntley Street deserta, Henry tenta de novo falar com Rosalind. A sua reunião já acabou e ela foi logo para o gabinete do editor, onde ainda está, passados quarenta e cinco minutos. A secretária, temporária, pede-lhe que espere enquanto vai tentar obter mais informações. Enquanto espera, Perowne encosta-se ao apoio da cabeça e fecha os olhos. Sente a impressão do suor seco na cara, nos sítios onde fez a barba. Os dedos dos pés, que experimenta mexer, parecem fechados num meio líquido em arrefecimento rápido. A importância do jogo esbateu-se completamente e no seu lugar está agora a vontade de dormir. Nem que sejam apenas dez minutos. Foi uma semana difícil, uma noite agitada, um jogo difícil. Sem olhar, acciona o botão que tranca o carro. Os fechos das portas são accionados numa sequência rápida, como um eco de um ruído surdo, quatro semicolcheias que parecem embalá-lo para adormecer. Um antigo dilema da evolução - a necessidade de dormir e o medo de ser devorado - finalmente resolvido pelo sistema de fecho centralizado. Pelo minúsculo receptor que tem junto ao ouvido esquerdo ouve o murmúrio do escritório em open space, o matraquear suave das teclas dos computadores e, mais perto, uma voz masculina insistir com alguém que não está a ouvi-lo bem: «Ele não nega... mas ele não nega... Sim, eu sei. Sim, é esse o nosso problema. Ele não nega nada.»
De olhos fechados, visualiza as instalações do jornal, as passadeiras de pontas dobradas e com nódoas de café, o sistema de aquecimento feroz onde ferve uma água enferrujada, as longínquas falanges de lâmpadas fluorescentes que iluminam zonas caóticas, as pilhas de papéis onde ninguém toca porque ninguém está interessado em saber o que está escrito neles nem para que servem e as secretárias sobrepovoadas demasiado chegadas umas às outras. Reina ali o espírito de uma sala de aula numa escola de arte. Toda a gente está sob uma pressão demasiado grande para se ocupar dos velhos montes de papéis poeirentos. No hospital acontece o mesmo. Salas cheias de lixo, armários e caixas de arquivo que ninguém se atreve a abrir. Máquinas antigas em invólucros de estanho creme, demasiado pesadas e misteriosas para serem retiradas. Edifícios doentes, com demasiados anos de uso, que só a demolição pode curar. Cidades e estados já impossíveis de consertar. O mundo inteiro a parecer-se com o quarto de Theo. É precisa uma raça de adultos extraterrestres para desfazer a desordem geral e depois mandar toda a gente cedo para a cama. Supunha-se noutros tempos que Deus era um adulto, mas acabou por tomar partido de forma infantil nalgumas disputas. Depois mandou-nos mesmo uma criança, um dos seus - era o que menos falta nos fazia. Um rochedo à deriva já enxameado de órfãos...
- Dr. Perowne?
- O quê? Sim?
- A sua mulher telefona-lhe assim que estiver disponível, mais ou menos daqui a meia hora.
Mais animado, põe o cinto, faz inversão de marcha e dirige-se a Marylebone. Os manifestantes continuam em filas compactas em Gower Street, as Tottenham Court Road já está aberta e inundada de vagas de trânsito que se dirigem para norte. Junta-se a uma delas por breves instantes e depois vira para oeste e outra vez para norte, encontrando-se rapidamente no cruzamento das ruas Goodge e Charlotte, um sítio de que sempre gostou, onde os espaços utilitários e de prazer se condensam, avivando as cores e as casas: espelhos, flores, sabonetes, jornais, fichas, tintas, chaves, civilizadamente entremeadas com restaurantes, bares e hotéis caros. Qual foi o autor americano que disse que se podia ser feliz vivendo em Charlotte Street? Daisy vai ter de lho recordar mais uma vez. Tanto comércio num espaço tão pequeno produz necessariamente montes de sacos de lixo sobre os passeios. Um cão vadio anda à volta dos sacos - os dentes arreganhados para o lixo parecem mais brancos. Antes de voltar outra vez para oeste espreita para o fim da rua, onde se vê a sua praça e, mais ao longe, a sua casa emoldurada por árvores nuas. As portadas do terceiro andar estão fechadas - Theo ainda está a dormir. Henry ainda se lembra da profundidade única do sono no fim da manhã na adolescência e nunca põe em causa o direito do seu filho a essas horas. Não vão ser possíveis por muito tempo.
Atravessa a sombria Great Portland Street - são as fachadas de pedra que fazem que pareça sempre que ali o Sol ainda não nasceu - e em Portland Place passa por um casal da Falun Gong em vigília no passeio em frente da Embaixada da China. A crença num universo miniaturizado que roda incessantemente nove vezes para a frente e nove vezes para trás no baixo ventre do médico está a ameaçar a ordem totalitária. Trata-se obviamente de uma visão não materialista. A resposta da nação são os espancamentos, a tortura, os desaparecimentos e os assassínios, mas os seus seguidores são actualmente em muito maior número que os membros do Partido Comunista Chinês. Quando passa por ali e observa o protesto, Perowne costuma pensar que a China é pura e simplesmente um país com uma população demasiado grande para se manter muito tempo num estado de paranóia. A sua economia está a crescer demasiado depressa e o mundo moderno está demasiado interligado para o partido continuar a manter o controlo. Hoje em dia vêem-se chineses no Harrods, carregados de artigos de luxo. Em breve carregar-se-ão de ideias e nessa altura algo terá de ceder. Entretanto, há também o estado chinês a manchar a reputação do materialismo filosófico.
Depois de deixar para trás a embaixada com a sua sinistra panóplia de parabólicas no telhado, passa pela rede ordenada de ruas de médicos para oeste de Portland Street, com as suas clínicas privadas, as salas de espera com cortinados de chintz, mobiliário a reproduzir modelos antigos, com pernas arqueadas e a Country Life nos cestos de revistas. É a fé, tão poderosa como qualquer religião, que leva as pessoas a Harley Street. Ao longo dos anos, o hospital onde trabalha tem recebido e tratado - obviamente de graça - muitos casos complicados por algum dos médicos idosos, incompetentes e com honorários excessivos que dão consulta naquela rua. Enquanto espera que o semáforo abra, vê três pessoas de burkas pretas saírem de um táxi em Devonshire Place. Comprimem-se no passeio e comparam o número de uma porta com o que está num cartão que uma delas segura. A pessoa do meio, provavelmente a que está doente, ligeiramente dobrada, anda com um passo incerto e apoiada aos braços das suas acompanhantes. As três colunas negras, perfeitamente delineadas contra o estuque e os tijolos esbranquiçados, de cabeças a rodopiar, claramente a discutirem por causa da morada, têm um aspecto burlesco, como crianças a pregarem partidas no Dia das Bruxas. Ou como a representação de Macbeth na escola de Theo, quando as falsas árvores da floresta de Birnam esperavam dos lados do palco para o atravessarem em direcção a Dunsinane. Talvez sejam irmãs a acompanharem a mãe ao que representa o seu último recurso. O semáforo mantém-se teimosamente no vermelho. Perowne acelera ligeiramente e depois põe a alavanca das mudanças em ponto morto. Para que está ele a carregar na embraiagem e a esforçar os seus sensíveis quadrícipes? Não consegue evitar um certo mal-estar; é visceral. Que tristeza ser obrigado a andar pela rua sem qualquer identidade. Pelo menos aquelas mulheres não andam de babuchas. Dão-lhe volta ao estômago. Que diriam os relativistas, os pessimistas alegres da universidade de Daisy? Que é sagrado, tradicional, uma posição contra o vazio do consumismo ocidental? Mas os homens, os maridos - Perowne já atendeu vários sauditas no seu consultório - andam de fato, ou ténis e fato de treino, ou de calças largas e Rolex, e são encantadores e civilizados e profundamente educados segundo ambas as tradições. Seriam capazes de andar vestidos como elas e tropeçar por causa da escuridão em plena luz do meio-dia?
O semáforo que finalmente ficou verde, a mudança de cenário - agora pórticos e outro tipo de salas de espera - e as exigências não muito grandes do trânsito sobre a sua concentração afastam-no daqueles pensamentos incómodos. Conseguiu atalhar um ataque de fúria ainda em desenvolvimento. Que se lixem os códigos islâmicos! Porque há-de ele importar-se com as burkas? Irritar-se com véus! Não, «irritar-se» não é uma palavra suficientemente forte. Os véus e a República da China são responsáveis pelo toque ligeiramente negativo do seu estado de espírito. Aos sábados costuma sentir-se satisfeito e despreocupado, e ei-lo pela segunda vez naquela manhã a esquadrinhar os elementos de um estado de espírito mais sombrio. O que é que está a incomodá-lo? Não é o facto de ter perdido o jogo, nem o acidente com Baxter, nem a noite mal dormida, apesar de todas essas coisas poderem ter tido algum efeito. Talvez seja apenas a perspectiva de uma tarde em que vai ter de percorrer a imensidade dos subúrbios em torno de Perivale. Enquanto houve um jogo de squash entre ele e essa visita sentiu-se protegido. Agora resta-lhe apenas ir comprar o peixe. As reduzidas faculdades da sua mãe já não lhe permitem prever a sua visita, reconhecê-lo quando está com ela ou lembrar-se dele depois de ele sair. Uma visita em vão. Não está à espera dele e não ficaria desapontada se ele não aparecesse. É como ir pôr flores numa campa - um gesto que na verdade tem a ver com o passado. Mas a sua mãe consegue levar uma chávena de chá à boca e, embora não consiga associar um nome ao rosto dele, fica feliz quando o vê sentado ao pé dela, a ouvir o seu arrazoado. Fica contente por ver qualquer pessoa. Odeia ir vê-la, mas sente-se mal se passar muito tempo sem a ver.
Só quando está a estacionar perto de Marylebone High Street é que se lembra de ligar o rádio para ouvir as notícias do meio-dia. Segundo a polícia, estão duzentas e cinquenta mil pessoas no centro de Londres. Alguém da organização insiste que a meio da tarde serão dois milhões. Ambas as fontes estão de acordo quanto ao facto de que continuam a chegar pessoas. Uma manifestante entusiasmada, por acaso uma actriz famosa, ergue a voz acima das palavras de ordem e dos vivas para dizer que nunca na história das Ilhas Britânicas houve um ajuntamento tão grande. Quem ficar na cama naquele sábado de manhã irá arrepender-se de não ter estado ali. O repórter, num assomo de honestidade, lembra aos ouvintes que aquilo é uma referência ao discurso do Dia de São Crispim na obra de Shakespeare Henrique V, antes da batalha de Agincourt. Perowne não percebe o sentido da alusão, e entretanto faz inversão de marcha num espaço apertado entre dois jipes. Duvida que Theo esteja arrependido. E por que razão iria um manifestante a favor da paz querer citar um rei guerreiro? As notícias continuam, e Perowne fica sentado, de motor parado, a olhar fixamente um ponto de luz verde-azulada entre os botões do rádio. Por toda a Europa, por todo o mundo, as pessoas juntam-se para exprimirem a sua preferência pela paz e pela tortura. Era o que diria o professor - Henry tem a sensação de ouvir a sua voz insistente de tenor. A seguir vem a notícia que Henry considera dizer-lhe respeito. Piloto e co-piloto estão detidos para interrogatório em locais diferentes da zona oeste de Londres. A polícia não diz mais nada. Porque será? Vistas através do pára-brisas, a rua próspera de tijolos vermelhos, a geometria das fendas no passeio e as pequenas árvores despidas parecem provisórias, uma imagem projectada numa fina camada de gelo. Um elemento do aeroporto está a admitir que um dos homens é de origem chechena, mas a negar o boato de que teria sido encontrado um Corão no cockpit. Mesmo que fosse verdade, acrescenta, isso não significaria nada. Não é nenhum crime. Tem toda a razão. Henry abre a porta. A autoridade secular, indiferente à babel de inúmeros deuses, garante a liberdade religiosa. Que floresçam as religiões. Está na altura de ir às compras. Apesar das dores nos músculos da coxa, afasta-se rapidamente do carro, que fecha com o comando sem olhar para trás. Um súbito sol de Inverno ilumina o seu caminho por High Street. O maior ajuntamento de pessoas na história das Ilhas Britânicas, a menos de três quilómetros dali, não perturba a alegria de Marylebone, e Perowne sente-se também mais tranquilo ao desviar-se das pessoas que caminham na direcção oposta à sua e dos carrinhos com bebés serenos e aconchegados. Tanta prosperidade, lojas enormes inteiramente dedicadas a queijos, fitas, móveis Shaker, são uma espécie de protecção. Aquele bem-estar comercial é sólido e defender-se-á até à última. Não será o racionalismo a derrotar o fanatismo religioso, mas o comércio e tudo o que ele arrasta consigo - empregos, paz, uma certa dedicação a prazeres realizáveis, a promessa de desejos satisfeitos neste mundo e não no outro. Mais vale fazer compras que rezar.
Dobra a esquina para Paddington Street e debruça-se sobre uma banca de peixe, ao ar livre, exposto sobre uma bancada de mármore branco muito inclinada. Vê de imediato que há ali tudo aquilo de que precisa. Tanta abundância vinda de mares que estão a ficar vazios. Junto à porta aberta, empilhados em duas caixas de madeira pousadas no chão, como refugos industriais a enferrujar, estão as sapateiras e as lagostas, e é visível algum movimento por entre o entrelaçado de patas com um aspecto guerreiro. As pinças estão presas por fúnebres fitas pretas. É uma sorte para o peixeiro e para os seus clientes os animais marinhos não estarem preparados para emitir ondas sonoras e não terem voz, senão daquelas caixas sairia um uivo insuportável. O próprio silêncio que reina entre aquela multidão que se agita mansamente é perturbador. Henry desvia os olhos, concentrando-se na carne branca sem sangue e nas formas prateadas sem vísceras, cujo olhar não é acusador, e nos peixes de profundidade dispostos em hábeis filas sobrepostas de um cor-de-rosa inocente, como páginas de cartão do primeiro livro de um bebé. Naturalmente, o Perowne pescador tem lido a literatura mais recente: na cabeça e no pescoço da truta há muitos nociceptores polimodais iguais aos nossos. Houve tempos em que se pensava comodamente que, para nosso benefício, estávamos rodeados de autómatos comestíveis em terra e no mar. Afinal, sabe-se agora que até os peixes sentem a dor. É esta a complicação cada vez maior da condição moderna, o círculo em expansão da compaixão moral. Não somos apenas irmãos e irmãs de povos distantes, mas também das raposas e dos ratos de laboratório, e agora até dos peixes. Perowne continua a pescá-los e a comê-los e, embora não fosse capaz de meter uma lagosta viva em água a ferver, não tem qualquer problema em pedir uma num restaurante. Como sempre, o segredo, a chave do sucesso e do domínio humano é ser selectivo nas compaixões. Por muitas coisas muito esclarecidas que se digam, é o que está à mão, o visível, que exerce a força que tudo domina. É aquilo que não se vê... É por isso que na amável Marylebone o mundo parece tão profundamente em paz.
Do menu do jantar daquele dia não consta sapateira nem lagosta. Se as amêijoas e os mexilhões que comprou estiverem vivos, pelo menos estão inertes e decentemente fechados. Compra camarões com casca já cozidos e três rabos de peixe-anjo que custam um pouco mais do que o seu primeiro carro. Tem de reconhecer que era um monte de sucata. Pede as cabeças e as espinhas de duas raias para fazer caldo. O peixeiro é um homem educado e atencioso, que trata os clientes como membros de uma estirpe especial da nobreza latifundiária. Embrulha cada um dos peixes em várias páginas de jornal. É o tipo de questão que Henry gostava de apresentar a si próprio quando andava na escola: quais as probabilidades de aquele peixe em particular, daquele cardume em particular, vindo daquela plataforma continental em particular, acabar nas páginas, não, naquela página em particular daquele número do Daily Mirror? Qualquer coisa entre um e o infinito. O mesmo se aplica aos grãos de areia de uma praia e à forma como estão dispostos. O ordenamento aleatório do mundo, as probabilidades inimagináveis de uma determinada condição, são assuntos que continuam a agradar-lhe. Mesmo em criança, e sobretudo depois de Aberfan, nunca acreditou no destino nem na Providência, nem que houvesse alguém no céu a determinar como seria o futuro. Em vez disso, sempre acreditou que em cada instante existiam biliões de biliões de futuros possíveis; a selecção do acaso e das leis da física são, para ele, uma liberdade das maquinações de um deus sombrio.
O saco de plástico branco onde vai o jantar para a família é pesado, está denso com o peixe e o papel encharcado, e as asas magoam-lhe as palmas das mãos no caminho de regresso ao carro. A dor no peito impede-o de mudar o saco para a mão esquerda. Vindo do ambiente frio e húmido e dos odores a plantas marinhas da peixaria, tem a sensação de sentir no ar uma certa doçura, um cheiro ao feno quente e a secar nos campos em Agosto. O cheiro - certamente uma ilusão motivada pelo contraste - permanece, mesmo com o trânsito e o frio de Fevereiro. Tantos Verões passados em família no Ariège, um recanto no Sudoeste de França, exactamente no sítio onde começam as primeiras elevações do solo antes dos Pirenéus. O castelo de St. Felix, de uma pedra quente, ligeiramente rosada, com duas torres redondas e vestígios de um fosso, foi o local escolhido por John Grammaticus para se refugiar após a morte da mulher e para a chorar através das famosas canções de amor, ao mesmo tempo tristes e doces, reunidas num volume intitulado Sem Exéquias. Para Henry Perowne não eram famosas, pois continuou a não ler poesia em adulto, mesmo depois de ter arranjado um sogro poeta. Claro que começou a fazê-lo assim que descobriu que era ele próprio pai de uma poeta. Mas para isso teve de fazer um esforço desmedido. Por vezes basta um verso para lhe provocar uma opressão por detrás dos olhos. Os romances e os filmes, inquietantemente modernos, impelem-nos para a frente ou para trás através dos tempos, dias, anos ou até gerações. Mas, para fazer as suas observações e considerações, a poesia equilibra-se na fugacidade do momento. Abrandar, parar completamente para ler e compreender um poema, é como tentar adquirir uma competência antiga, como caiar muros ou apanhar trutas à mão.
Quando Grammaticus acabou o luto, há mais de vinte anos, iniciou uma série de casos amorosos que ainda hoje continuam. O padrão está bem definido. Contrata uma mulher mais nova, normalmente inglesa, mas às vezes francesa, para secretária e governanta e, pouco a pouco, transforma-a em sua mulher. Ao fim de dois a três anos ela vai-se embora, por não conseguir aguentar mais, e será a sua substituta a receber a família Perowne em finais de Julho. Rosalind é sempre contundente, prefere sempre a anterior à seguinte, mas depois, com o tempo, acaba sempre por criar uma certa amizade com elas. Afinal não pode dizer-se que a culpa seja da recém-chegada. Os seus filhos, totalmente desprovidos da capacidade de fazerem juízos de valor, mesmo em adolescentes, são imediatamente amáveis para elas. Perowne, obrigado por constituição a amar uma única mulher em toda a sua vida, não diz nada, mas fica impressionado, sobretudo à medida que o sogro se vai aproximando dos oitenta anos. Talvez esteja finalmente a abrandar, pois Teresa, uma alegre bibliotecária de Brighton, de quarenta anos, já está com ele há quase quatro anos.
Os jantares ao ar livre no interminável crepúsculo, os perfumados rolos de feno nas encostas íngremes que rodeiam os jardins, o cheiro mais ténue do cloro da piscina na pele dos miúdos e o vinho tinto tépido de Cahors ou Cabrières - deviam ser o Paraíso. E são quase, e é por isso que continuam a ir lá. Mas por vezes John é um homem infantil, dominador, o tipo de artista que se permite percorrer todo um leque de estados de espírito. No espaço de uma garrafa de vinho tinto consegue migrar de umas quantas anedotas rápidas para um súbito ataque de raiva, retirando-se depois muito zangado para o seu escritório - e é ver a sua figura alta, de costas arqueadas, atravessar o relvado às escuras em direcção à casa iluminada, seguido por Betty ou Jane ou Francine, e agora Teresa, a tentarem acalmá-lo. Nunca conseguiu aprender completamente a arte de conversar; tem tendência para ver em qualquer opinião dissonante, por branda que seja, uma espécie de afronta, um desafio para um combate mortal. Os anos e a bebida não o têm suavizado. E, naturalmente, com os anos escreve menos, e isso torna-o mais infeliz. O seu exílio em França tem constituído um longo período de tédio, obscurecido ao longo de duas décadas por algumas desconsiderações por parte do seu país natal. Houve um primeiro período mau de quatro anos, quando não quiseram reimprimir os seus Collected Poems e ele teve de arranjar outra editora. John também ficou ofendido quando foi Spencer e não ele a receber o título de cavaleiro, quando foi Rainer e não ele a ser editado pela Faber, quando perdeu a titularidade da cadeira de Poesia em Oxford para Fenton, quando Hughes e mais tarde Motion lhe foram preferidos para o lugar de Poeta Laureado e, acima de tudo, quando foi Heaney a receber o Nobel. Estes nomes não significam nada para Perowne, que compreende, no entanto, que os poetas eminentes, tal como os grandes consultores, vivem num mundo vigilante e invejoso, em que a reputação é alvo de uma luta renhida e um homem pode ficar mal pela ansiedade de atingir um certo estatuto. Os poetas - este poeta, pelo menos - é tão prosaico como qualquer outra pessoa.
Durante alguns Verões, quando os filhos ainda eram pequenos, os Perowne iam para outros sítios, mas nunca encontraram nenhum tão bonito como St. Felix. Era ali que Rosalind passava as férias de Verão em criança. O castelo era enorme, e era fácil estar longe da vista de John, que gostava de passar várias horas por dia sozinho. Numa semana raramente havia mais de dois ou três momentos maus e, com o tempo, foram-se tornando cada vez menos importantes. Quando o padrão da vida amorosa de John começou a definir-se, Rosalind teve as suas razões, algo delicadas, para se manter em contacto com o pai. O castelo pertencia aos seus avós maternos, e era o grande amor da vida da sua mãe. Fora ela que o modernizara e restaurara. A sua preocupação é que a idade e a doença levem John a casar com uma das suas secretárias, o que poderia fazer que o castelo saísse da família e fosse parar às mãos de uma arrivista qualquer. O direito sucessório francês poderia impedi-lo, mas existia um documento antigo que isentara St. Felix, determinando que seria o direito inglês a prevalecer. Com os seus modos irritáveis, John garantiu à filha que nunca voltaria a casar e que o castelo ficaria para ela, mas recusara-se a atestá-lo por escrito.
É provável que esse motivo subjacente de ansiedade se resolva. Um outro motivo mais forte para manterem as suas visitas ao castelo no Verão era a habitual insistência de Daisy e Theo - noutros tempos, antes de John e Daisy se terem fartado. Os miúdos adoravam o avô e achavam que os seus modos meio tontos eram uma prova da sua individualidade, da sua grandeza - uma visão que ele próprio partilhava. Mimava-os, nunca levantava a voz contra eles e escondia deles os seus piores acessos de raiva. Considerou-se desde o princípio - e o tempo dar-lhe-ia razão - uma figura importante no seu desenvolvimento intelectual. Quando se tornou claro que Theo nunca iria interessar-se mais por livros do que a boa educação lhe exigia, John encorajou-o a dedicar-se ao piano e ensinou-o a tocar um boogie simples em dó. Depois comprou-lhe uma guitarra acústica e desencantou na cave caixas e caixas de cartão cheias de discos de blues - tanto discos velhinhos de 78 rotações como LP - e gravou-os todos em cassetes que enviava regularmente para Londres. Quando Theo fez catorze anos, o avô levou-o a Toulouse para assistir a uma das últimas apresentações ao vivo de John Lee Hooker. Numa noite de Verão, depois do jantar, Grammaticus e Theo cantaram St. James' Infirmary sob um céu inundado de estrelas, o velhote com a cabeça inclinada para trás e a cantar com uma voz rouca e um sotaque americano, que fizeram Rosalind chorar. Theo, na altura com apenas catorze anos, improvisou um solo doce e melancólico. Perowne, sentado na borda da piscina, com os pés dentro de água e o copo de vinho na mão, também ficou comovido e sentiu-se culpado por não ter levado a sério o talento do filho.
No Outono desse ano, Theo começou a ter lições na zona leste de Londres, com várias figuras já de certa idade do mundo dos blues de Inglaterra. Segundo Theo, a mais impressionante de todas foi Jack Bruce, porque tinha aprendido música, tocava vários instrumentos, revolucionara a arte de tocar baixo, sabia toda a teoria e gravara com toda a gente durante o período heróico dos blues britânicos, no princípio dos anos sessenta, na longínqua era dos Blues Incorporated. Também tinha mais paciência com ele do que os outros, dizia Theo, e era muito atencioso. Perowne ficou surpreendido com o facto de uma figura tão importante como Bruce se dar ao trabalho de perder tempo a ensinar um miúdo. Theo desarmou-o, dizendo que não via nada de estranho nisso.
Por intermédio de Bruce, Theo conheceu algumas das figuras lendárias. Participou numa aula dada por Clapton. Tiveram um encontro com Long John Baldry, vindo do Canadá. Theo gostou de o ouvir falar de Cyril Davies, Alexis Korner, da Graham Bond Organisation e do primeiro concerto dos Cream. Por mero acaso, Theo tocou durante vários minutos numa jam session com Ronnie Wood e conheceu o seu irmão mais velho, Art. Passado um ano, Art convidou Theo para participar numa jam session no Eel Pie Club, no pub Cabbage Patch, em Twickenham. Bastaram-lhe menos de cinco anos para ficar por dentro de toda a tradição. Agora, sempre que está no castelo, toca para o avô e mostra-lhe as suas últimas habilidades. Parece precisar da aprovação de John, e o velhote faz-lhe a vontade. Perowne tem de admitir que o seu sogro fez despertar qualquer coisa no filho que ele, Perowne, talvez nunca tivesse descoberto. É verdade que numas férias a fazer bodyboard em Pembrokeshire, Henry lhe mostrou três acordes numa viola que pertencia a alguém, já não se lembra a quem, e lhe explicou que os blues eram tocados em mi. Foi apenas mais uma coisa para além de jogarem ao disco, de fazerem esqui na relva, de andarem de bicicleta, de jogarem paintball, de fazerem ressaltar pedras e de andarem de patins em linha.
Nessa altura esforçou-se muito para que os seus filhos se divertissem. Até partiu um braço a tentar andar de patins. Mas nunca imaginaria que esses três acordes iam ser a base da vida profissional do seu filho.
John Grammaticus também teve um papel preponderante na vida de Daisy, pelo menos até ao momento em que houve qualquer coisa que correu mal entre ambos. Quando ela tinha treze anos, mais ou menos na altura em que andava a ensinar ao irmão o boogie em dó, perguntou-lhe de que livros gostava. Ouviu a resposta dela e declarou peremptoriamente que ela andava a esforçar-se pouco - tinha um desprezo profundo pela ficção para «jovens adultos» que ela andava a ler. Convenceu-a a tentar ler Jane Eyre, leu-lhe os primeiros capítulos em voz alta e descreveu-lhe os prazeres que ia encontrar. Ela esforçou-se, mas apenas para lhe agradar. Não estava familiarizada com aquela linguagem, as frases eram muito longas, as imagens não eram claras. Perowne tentou ler o livro e o resultado foi semelhante. Mas John insistiu com a neta para que continuasse e finalmente, ao fim de cem páginas, acabou por se apaixonar por Jane e custava-lhe largar o livro à hora das refeições. Uma tarde, quando a família foi dar um passeio pelo campo, deixaram-na ficar a ler as quarenta e uma páginas que lhe faltavam. Quando voltaram foram dar com ela debaixo de uma árvore ao pé do pombal, a chorar, não por causa da história, mas porque tinha chegado ao fim e despertado de um sonho e enfrentado a realidade de que tudo aquilo era apenas uma criação de uma mulher que jamais conheceria. Disse que estava a chorar de admiração, de alegria por ser possível criar coisas daquelas. Grammaticus queria saber que coisas. Oh, avô, quando as crianças do orfanato morrem e, no entanto, o tempo está tão maravilhoso, e aquela parte em que Rochester finge ser cigano, e quando Jane vê Bertha pela primeira vez e tem a sensação de estar perante um animal selvagem...
A seguir deu-lhe A Metamorfose, de Kafka, que, segundo ele, era o livro ideal para uma rapariga de treze anos. Devorou aquele conto de fadas doméstico e pediu aos pais que também o lessem. Apareceu uma manhã, muito cedo, no quarto deles no castelo e sentou-se na cama a lamentar-se: coitado do Gregor Samsa, a família dele é tão horrorosa para ele. Que sorte ele ter uma irmã que lhe limpa o quarto e lhe arranja as comidas de que gosta. Rosalind leu o livro de um trago, como se fosse um documento legal. Perowne, por natureza relutante em relação a uma história de uma transformação impossível, admitiu que no fim se sentiu curioso - não conseguiu um termo mais elevado para exprimir a sua admiração. Agradou-lhe a crueldade inimaginável dessa irmã na última página, ao seguir no eléctrico com os pais até à última paragem e levantar-se para distender os seus membros de jovem, preparada para iniciar uma vida sensual. Era uma transformação em que conseguia acreditar. Foi o primeiro livro que Daisy lhe recomendou e marcou o início da sua educação literária pela filha. Apesar de, ao longo dos anos, ter sido sempre bastante diligente e ter tentado ler quase tudo o que ela lhe sugere, sabe que ela o acha um materialista rude e sem remissão. Acha que lhe falta imaginação. Talvez seja verdade, mas Daisy ainda não desistiu dele. Os livros estão empilhados em cima da mesa de cabeceira e à noite, quando chegar, trar-lhe-á mais. Nem sequer acabou a biografia de Darwin e ainda não começou a ler Conrad.
A partir daquele Verão de Brontè e Kafka, Grammaticus tomou a seu cargo a orientação das leituras de Daisy. Tinha ideias firmes e antiquadas quanto aos livros fundamentais, sabendo no entanto que nem todos dariam muito prazer a ler. Acreditava na aprendizagem de cor e estava disposto a pagar para que assim fosse. Shakespeare, Milton e a Bíblia do rei Jaime - cinco libras por cada vinte versos memorizados dos passos que assinalava.
Aqueles três livros eram a fonte de toda a boa poesia e prosa inglesa; ensinou-a a enrolar as sílabas na língua e a sentir a sua força rítmica. No Verão dos seus dezasseis anos, Daisy ganhou aquilo que para uma adolescente era uma fortuna no castelo, a repetir, até a cantar, versos de Paradise Lost, do Génesis e de várias meditações de Hamlet. Recitou Browning, Clough, Chesterton e Masefield. Numa das melhores semanas ganhou quarenta e cinco libras. Ainda agora, passados seis anos, com vinte e três anos de idade, jura que consegue declamar sem parar durante mais de duas horas. Aos dezoito anos, quando acabou o liceu, já tinha lido uma fracção considerável daquilo a que o avô chamava as coisas óbvias. Nem quis ouvir falar da possibilidade de ela ir estudar Literatura Inglesa para outro sítio que não o seu colégio em Oxford. Apesar de Henry e Rosalind lhe terem pedido que não o fizesse, provavelmente recomendou-a. Desvalorizou o assunto, dizendo-lhes que hoje em dia o sistema era incorruptível e que, mesmo que quisesse, não poderia fazer nada para a ajudar. Pelo que conheciam do que se passava nas suas profissões, sabiam que aquilo não poderia ser estritamente verdade. Ficaram de consciência mais tranquila quando viram uma nota manuscrita dirigida ao director do colégio de Daisy por um tutor que afirmava que a entrevista dela fora espantosa, nomeadamente por ter sublinhado todas as suas opiniões com uma citação. Ao fim de um ano já tinha alcançado demasiado sucesso para o gosto do avô. Chegou a St. Felix dois dias depois do resto da família, levando consigo o seu poema que ganhara o Prémio Newdigate desse ano. Henry e Rosalind nunca tinham ouvido falar do Newdigate, mas ficaram imediatamente satisfeitos. No entanto, o seu significado foi maior, talvez grande de mais, para o avô de Daisy, que também o ganhara na década de cinquenta. Levou as folhas para o escritório - os pais de Daisy só puderam vê-las mais tarde. O poema era uma longa descrição das ternas meditações de uma jovem após o fim de mais uma relação amorosa. Mais uma vez tirou os lençóis da cama e levou-os para a lavandaria, onde fica a vê-los pelo «monóculo enevoado» da máquina de lavar, onde «as nossas manchas revoluteiam para serem expurgadas». Aquelas relações sucedem-se, como as estações, demasiado depressa, «passando do verde ao castanho» com «os frutos caídos das árvores a apodrecerem docemente até ao esquecimento». As manchas não são pecados, mas «marcas de água de êxtase» ou, mais adiante, «palimpsestos leitosos», e, por isso, não são fáceis de retirar. Vagamente religioso, com um erotismo melífluo, o poema sugeriu a um Perowne perturbado que o primeiro ano da sua filha na universidade tivera mais gente do que ele alguma vez supusera. Não apenas um namorado, ou um amante, mas toda uma sucessão deles, até atingir aquela serenidade. Pode ter sido isso que voltou Grammaticus contra o poema - a sua protegida despertara e encontrara outros homens. Ou pode ter sido mais um deplorável ataque de ansiedade pelo seu estatuto - ao tomar a seu cargo a educação literária de Daisy não pretendera produzir mais um poeta seu rival. Afinal, Fenton e Motion também ganharam o Newdigate.
Teresa fez um jantar simples: uma salada niçoise com atum fresco que comprou na praça de Pamiers. A mesa foi posta no jardim, perto da cozinha, na extremidade de um vasto relvado. Estava uma noite excepcionalmente bela, com as árvores e os arbustos a fazerem uma sombra avermelhada que avançava sobre a relva e os grilos a ocuparem o lugar onde durante a tarde tinham estado as cigarras. Grammaticus foi o último a aparecer, e para Perowne, pela avaliação dos movimentos do sogro quando este se baixou para se sentar na cadeira ao lado da de Daisy, ele já devia ter despejado uma garrafa de vinho ou mais sozinho. Essa suspeita foi confirmada quando ele pousou a mão sobre o pulso da neta e, com aquela assustadora franqueza que os bêbedos confundem com intimidade, lhe disse que o poema era imprudente e não do género dos que normalmente recebiam o Newdigate. Disse-lhe que não era bom, como se ela tivesse obrigação de o saber e de concordar. Como um psiquiatra poderia dizer, estava desinibido.
No seu último ano de liceu, apenas com dezoito anos, a melhor aluna do seu ano, Daisy já formara a sua maneira de ser precisa e contida. Era uma jovem magra, elegante, com um rosto pequeno de menina endiabrada, cabelo preto curto e costas direitas. A sua calma parece impermeável. Nessa noite, ao jantar, só os pais e o irmão sabiam como essa aparência controlada era frágil. Mas ela manteve a calma ao retirar rapidamente a mão e olhar para o avô à espera que ele dissesse mais alguma coisa. Ele bebeu uma boa parte do vinho que estava no seu copo, como se fosse um copo de cerveja, e avançou contra o silêncio dela. Disse-lhe que as rimas eram soltas e desajeitadas e as estrofes irregulares. Henry olhou para Rosalind à espera que ela interviesse. Se não o fizesse, teria de ser ele a fazê-lo, e a questão assumiria uma certa importância. Para sua vergonha, não tinha a certeza de saber o que era uma estrofe e teve de ir ver ao dicionário ainda nessa noite. Rosalind aguentou-se - interromper a diatribe do pai demasiado cedo podia provocar uma explosão. Lidar com ele era uma arte delicada. Teresa estava a sofrer do seu lado da mesa. No seu tempo, e em muitas ocasiões nos anos anteriores à sua chegada, já houvera cenas daquelas, mas nunca nenhuma que envolvesse os netos. Sabia que aquilo não podia acabar bem. Theo assentou o queixo na palma da mão e ficou a olhar para o prato.
Encorajado pelo silêncio da neta, John continuou, entusiasmado com a sua própria autoridade, mas, à sua maneira, estupidamente afectuoso. Estava a confundir a jovem sentada à sua frente com a menina de dezasseis anos que conduzira por entre os maiores expoentes da poesia isabelina.
Se alguma vez o soubera, já esquecera o que um bom ano na universidade podia fazer. Só conseguia imaginar que ela sentia o mesmo que ele e estava a dizer-lhe o óbvio; que o poema era demasiado longo, que tentava chocar em demasia, que era uma alegoria que ambos sabiam ser demasiado rebuscada. Fez uma pausa para beber, outra vez muito, e ela continuou sem dizer nada.
Depois disse-lhe que o poema não era original e, finalmente, houve uma reacção. Ela levantou a sua encantadora cabeça e ergueu uma sobrancelha. Não era original? Perowne, vendo um indício no tremor do delicado queixo, achou que aquela calma não ia manter-se. Por fim Rosalind falou, mas o pai fez prevalecer a sua voz. Sim, uma poeta pouco conhecida mas dotada, Pat Jordan, uma mulher da escola de Liverpool, escrevera sobre a mesma ideia nos anos sessenta - o fim de uma relação, os lençóis a rodopiarem na máquina de lavar sob o olhar da poeta pensativa. Seria possível que Grammaticus soubesse quão idiota o seu comportamento estava a ser, mas não conseguisse parar? Nos seus olhos frágeis havia a expressão retraída de um cão, como se estivesse a assustar-se a si próprio e implorasse que alguém o fizesse parar. A sua voz falhava com o esforço de ser afável, mas continuava a falar sem parar, tornando-se cada vez mais ridículo. O silêncio que reinava em torno da mesa e que lhe permitira continuar era agora o seu castigo, a sua aflição. Thèo olhava para ele espantado, a abanar a cabeça. Obviamente, dizia John, não estava a acusar Daisy de plágio. Ela podia ter lido o poema e ter-se esquecido dele, ou simplesmente tê-lo reinventado. Afinal nem era uma ideia assim tão excepcional ou fora do comum, mas de qualquer forma...
Por fim calou-se, quando já não conseguia piorar mais as coisas. Perowne ficou satisfeito por ver que a sua filha não se deixara subjugar. Estava furiosa. Conseguia ver o coração dela a bater pelo latejar do pescoço.
Mas não iria aliviar o avô com qualquer tipo de explosão. De repente, sem conseguir suportar mais o silêncio, ele recomeçou, falando precipitadamente, a tentar abrandar a sua opinião, mas sem de facto a alterar. Daisy interrompeu-o e disse que achava que deviam mudar de assunto, o que levou Grammaticus a murmurar simplesmente «merda!», a levantar-se e a ir para dentro de casa. Ficaram a vê-lo afastar-se - era uma visão frequente, mas também perturbadora, pois era a primeira vez naquele Verão.
Daisy ficou lá em casa mais três dias, o suficiente para o avô pensar em formas de reatar a relação com ela. Mas no dia seguinte estava muito activo e alegre a tratar dos seus assuntos e parecia ter-se esquecido do que acontecera. Ou então estava simplesmente a fingir - como muitos alcoólicos, gostava de pensar que cada novo dia apagava o anterior. Quando Daisy partiu para Barcelona - algo que estava planeado há muito tempo -, foi despedir-se dele com dois beijos na cara e ele agarrou-lhe o braço e conseguiu com isso convencer-se de que houvera uma reconciliação. Quando Rosalind e depois Henry tentaram convencê-lo de que ainda tinha de resolver o assunto com Daisy, disse-lhes que estavam a inventar problemas. Depois disso deve ter ficado intrigado com o facto de ela não aparecer dois Verões seguidos em St. Felix. Teve bons motivos: partiu em viagem com amigos para a China e o Brasil. Devia ter-lhe escrito quando ela acabou o curso, mas nessa altura estava amuado em relação ao assunto. Assim, foi um passo arriscado de Rosalind mandar-lhe as provas do livro de poemas de Daisy. Não seria inevitável que ele não gostasse deles? Sobretudo porque o editor era o mesmo que se recusara a reeditar os seus Collected Poems.
Se o entusiasmo de John por My Saucy Bark era táctico, conseguiu escondê-lo de forma brilhante. A longa carta que lhe escreveu começava com o reconhecimento de que fora «terrivelmente rústico» em relação ao poema da lavandaria.
Não tinha sido incluído no livro, e Henry perguntou a si mesmo, embora nunca em voz alta, se ela não teria achado que o avô tinha razão. Descobrira um tom coloquial, dizia-lhe ele na carta, que, apesar disso, era muito rico em significado e associações. De vez em quando, essa voz vulgar, do quotidiano, era interrompida por versos de grande intensidade emocional e de uma «transcendência secular». Isso fazia que achasse que o espírito do seu amado Larkin estava sempre presente nos poemas dela, mas «revigorado pela sensualidade de uma jovem». Com a sua letra quase ilegível, elogiou a «força intelectual», a «coragem de um pensamento difícil e independente», que presidiam à construção dos seus poemas. Adorava a «desleixada perspicácia» dos seus Six Sbort Songs. Dizia que «rira como um idiota» com The Ballad of tbe Brain on my Shoe, um poema que nascera de uma visita de Daisy ao bloco operatório para ver o pai a trabalhar. Claro que é aquele de que Henry menos gosta. A filha assistiu a uma operação a um aneurisma. Não se perdeu matéria cinzenta nem branca. Henry acha que percebeu o essencial do poema, mas que há nele - segundo supõe - uma desonestidade perdoável. Daisy mandou um postal afectuoso ao avô, dizendo-lhe que tinha muitas saudades dele e que tinha uma grande dívida para com ele. Disse-lhe que as observações dele a tinham deixado muito entusiasmada, que estava sempre a lê-las e que até tinha ficado tonta com os elogios dele.
Agora o sogro e a filha vinham a caminho de Toulouse e de Paris. Uma estação de televisão queria fazer um programa sobre ele e ia pô-lo em grande estilo no Claridge's. O jantar daquela noite selaria a reconciliação. É essa a ideia, mas Perowne, de saco de peixe na mão, a caminhar por entre as pessoas que enchem High Street, já partilhou muitas refeições com o sogro para poder sentir-se optimista; além disso, a questão prolongou-se pelos últimos três anos. Hoje em dia, Grammaticus começa os seus
serões ou acaba as suas tardes como fazia naquela altura, com uns bons copos de gim antes do vinho - um hábito de que conseguiu livrar-se por algum tempo, por volta dos sessenta anos. Um outro desenvolvimento são os copos de uísque a fechar o dia, a anteceder a cerveja «de limpeza» antes de ir para a cama. Se aparecer à porta alegre ou excitado, sentirá aquela compulsão de mandar em casa da filha, que o faz beber ainda mais depressa. Ficar embriagado é embarcar numa viagem que normalmente o leva aos tempos idos - torna-se boa companhia, expansivo, maldoso e divertido, o famoso poeta de antigamente, quase tão feliz a ouvir como a falar. Contudo, quando chega ao destino, depois de devidamente enraizado nesse planalto sem sol, de estar completamente bêbedo, são as meditações mais desagradáveis, a agressividade, a paranóia e a pena dele mesmo que se apoderam dele. Actualmente, há sempre a expectativa de que uma noite com John corra mal, a menos que haja por perto alguém preparado para fazer humor, para elogiar e para passar horas a ouvir de rosto impassível. Nunca há.
Perowne chega ao carro e arruma o saco, com o seu cheiro forte, na mala, por entre as botas de caminhada e as mochilas da família e as bolas de ténis do Verão anterior. O pensamento pouco profissional que lhe ocorre é que a solução mais simpática para toda a gente, incluindo o velhote, seria dar-lhe um tranquilizante enquanto ele ainda está na fase alegre, uma benzodiazepina de acção rápida dissolvida num vinho tinto forte, como o Rioja, e, quando começasse a bocejar levá-lo pelas escadas acima para o quarto ou para o táxi - ou seja, meter o famoso poeta na cama antes da meia-noite, cansado e feliz e sem ter magoado ninguém.
Depois de andar algumas centenas de metros em Marylebone no meio de um trânsito lento, repara pelo espelho retrovisor que dois carros atrás do dele vem um BMW vermelho.
Só consegue ver um canto do lado de fora e por isso não sabe se lhe falta o espelho lateral. Uma carrinha branca interpõe-se entre eles num cruzamento e deixa quase de conseguir ver o carro vermelho. Não é impossível que seja Baxter, mas não se sente particularmente ansioso em relação à hipótese de tornar a vê-lo. Aliás, até nem se importava de falar com ele. O caso dele é interessante, e a oferta de ajuda foi sincera. O que o preocupa mais é o facto de o trânsito não andar naquela manhã de sábado - há uma obstrução mais à frente. Quando volta a olhar, o carro vermelho já desapareceu. Depois esquece o assunto; a sua atenção fica presa por uma loja de televisões à sua esquerda.
Na montra estão dispostas em ângulo imagens idênticas de vários tipos de ecrãs - raios catódicos, plasma, portáteis, home cinema. Todos eles mostram uma imagem do primeiro-ministro a dar uma entrevista em estúdio. O close-up do seu rosto está a transformar-se lentamente num close-up da boca, até que os seus lábios enchem metade do ecrã. No passado deu a entender que, se soubéssemos tanto como ele, também quereríamos avançar para a guerra. Talvez com aquele zoom lento, o realizador esteja conscientemente a responder a uma pergunta que toda a gente que estiver a ver quererá fazer: estará este político a dizer a verdade? Mas será que alguém consegue distinguir os sinais de um homem honesto? Tem havido bons trabalhos sobre esta questão. Perowne leu Paul Ekman. No sorriso de uma pessoa que sabe que está a mentir há certos grupos de músculos do rosto que não são activados. Só ganham vida com a expressão de um sentimento verdadeiro. O sorriso de um mentiroso é defeituoso, insuficiente. Mas será possível ver que esses músculos estão inertes quando há tantas variações nos rostos, papos de gordura, concavidades estranhas, diferenças de estrutura óssea? É particularmente difícil quando a primeira e melhor medida inconsciente de um mentiroso compulsivo é convencer-se de que é sincero. E, quando é sincero, toda a fraude desaparece.
Apesar de tantas dificuldades, das medidas preventivas instintivas, continuamos a observar atentamente, a tentar ler os rostos, a tentar avaliar as intenções. Será amigo ou inimigo? É uma preocupação antiga. Mesmo que ao longo das gerações estejamos certos apenas um pouco mais de metade das vezes, continua a valer a pena tentar. Hoje mais do que nunca, à beira da guerra, quando o país ainda imagina que pode voltar atrás antes que seja tarde de mais. Será que aquele homem acredita sinceramente que estaremos todos mais seguros se avançarmos para a guerra? Será verdade que Saddam possui armas com um potencial terrível? O primeiro-ministro pode simplesmente estar a ser sincero ou estar errado. Alguns dos seus mais ferozes opositores não duvidam da sua boa fé. Pode estar à beira de um monstruoso erro de cálculo. Ou talvez resulte - talvez o ditador seja vencido sem centenas ou milhares de mortes e, ao fim de um ou dois anos, haja finalmente uma democracia, secular ou islâmica, aninhada entre as duras tiranias do Médio Oriente. Preso no trânsito ao lado de uma multiplicidade de rostos, Henry sente a sua própria ambivalência sob a forma de uma vertigem, de uma indecisão estonteante. Ao escolher a neurocirurgia, escolheu uma profissão segura e simples.
Conhece doentes que nem conseguem reconhecer, quanto mais interpretar, os rostos dos seus familiares e amigos mais chegados. Na maior parte dos casos o giro médio direito está comprometido, normalmente na sequência de um AVC. Não há nada que um neurocirurgião possa fazer em relação a isso. Deve ter sido um momento de reconhecimento deficiente de um rosto - prosopagnosia transitória - que ocorreu no único encontro que teve com Tony Blair. Foi em Maio de 2000, uma altura já coberta por uma patine, um falso brilho de inocência. Antes das preocupações actuais, havia um projecto público em larga medida considerado um êxito.
Aparentemente ninguém o negava, as coisas estavam a correr bem. A transformação fora ousada e brilhante. Na festa de inauguração da Tate Modern estavam presentes quatro mil convidados - celebridades, políticos, os mais ricos e os melhores - centenas de jovens a distribuir champanhe e canapés e uma euforia geral não corrompida pelo cinismo, uma coisa rara nesse tipo de acontecimentos. Henry estava lá na qualidade de membro do Royal College of Surgeons. Rosalind fora convidada através do jornal. Theo e Daisy também foram e desapareceram no meio da multidão assim que chegaram. Os pais só voltaram a vê-los na manhã seguinte. Os convidados juntaram-se no imenso espaço industrial das velhas turbinas, onde o barulho de milhares de vozes excitadas parecia fazer pairar no ar uma gigantesca aranha sob as traves de ferro. Ao fim de uma hora, Henry e Rosalind separaram-se dos amigos e, de copo na mão, vaguearam pelas galerias quase desertas a visitar as exposições.
Sentiam-se tão bem que até as lúgubres ortodoxias da arte conceptual lhes pareceram divertidas, como demonstrações honestas dos trabalhos dos alunos num dia de festa na escola. Perowne gostou de Exploding Shed, de Cornelia Parker - uma construção humorística, uma ideia brilhante a explodir de uma mente. Entraram numa sala com obras de Rothkos e durante alguns minutos sentiram-se agradavelmente calmos entre as gigantescas pedras de um vermelho e laranja sombrios. Depois passaram por uma enorme portada para a galeria contígua, onde havia algo que à primeira vista lhes pareceu outra instalação. Uma parte, uma pequena pilha de tijolos, era de facto uma obra em exposição. Atrás dela, ao fundo da enorme sala, estava o primeiro-ministro e, ao seu lado, o director da galeria. A uns seis metros de distância, junto aos tijolos, isolada por um cordão de veludo, estava a imprensa - trinta ou mais fotógrafos e jornalistas - e algumas pessoas que pareciam pertencer aos serviços da galeria e de Downing Street. Os Perowne tinham entrado na sala num momento em que reinava um silêncio estranho. Blair e o director estavam a sorrir e a posar para as câmaras, em fotografias que incluiriam também os famosos tijolos. Os flashes faiscavam ao acaso, mas nenhum dos fotógrafos estava a chamá-los como é costume. A calma da cena parecia uma extensão da exposição de Rothko na galeria ao lado.
A certa altura, o director, talvez à procura de uma desculpa para terminar a sessão, levantou a mão para cumprimentar Rosalind. Conheciam-se por uma questão legal qualquer, que terminara de forma amigável. O director guiou Blair em torno dos tijolos e atravessou a galeria em direcção aos Perowne. Atrás deles vinha o séquito: os fotógrafos com as máquinas preparadas, os jornalistas com os livros de notas para o caso de finalmente acontecer qualquer coisa de interessante. Sem poderem fazer nada, os Perowne viram aproximar-se toda aquela gente. Num contacto súbito, foram apresentados ao primeiro-ministro, que cumprimentou primeiro Rosalind e depois Henry. O seu aperto de mão foi firme e viril e, para surpresa de Perowne, Blair olhou para ele com consideração e interesse. O seu olhar era inteligente, intenso e inesperadamente jovem. Ainda estava muita coisa para acontecer.
- Admiro muito o seu trabalho - disse a Perowne, que lhe agradeceu automaticamente. Mas ficou impressionado. Supôs que talvez Blair, com a sua boa memória e a sua fama de ter uma extraordinária capacidade para absorver os pormenores dos relatórios dos seus ministros, tivesse ouvido falar do excelente desempenho do hospital no mês anterior, em que todos os objectivos tinham sido atingidos, ou até da menção especial aos excepcionais resultados do departamento de neurocirurgia. O número de intervenções tinha aumentado vinte e três por cento no último ano.
Mais tarde, Henry tomou consciência de que a sua suposição era completamente absurda. O primeiro-ministro, ainda a agarrar a sua mão, acrescentara:
- Aliás, temos dois quadros seus em Downing Street. A Cherie e eu adoramo-los.
- Não, não - disse Perowne.
- Sim, sim - insistiu o primeiro-ministro, abanando-lhe a mão. Não estava com disposição para artistas modestos.
- Não, acho que...
- A sério. Estão na sala de jantar.
- Está enganado - disse Perowne, e essa palavra fez passar pela expressão do primeiro-ministro um brevíssimo instante de súbito alarme, uma dúvida passageira. Mais ninguém viu a sua expressão congelar e os seus olhos abrirem-se muito ligeiramente. Acabava de aparecer uma fractura da grossura de um cabelo na segurança do poder. Depois continuou como antes, sem dúvida depois de fazer um cálculo rápido de que, com tanta gente à volta deles a tentar ouvir, não podia voltar atrás. Se o fizesse, seria ridicularizado pela imprensa no dia seguinte.
- Seja como for, são verdadeiramente maravilhosos. Parabéns.
Um dos assessores, uma mulher com um fato de calças e casaco preto, interrompeu-o dizendo:
- Senhor primeiro-ministro, temos três minutos e meio. Temos de continuar.
Blair largou a mão de Perowne e, sem outra despedida que não um ligeiro aceno de cabeça e um breve franzir dos lábios, voltou-se e deixou que o conduzissem. E então o seu staff, a imprensa, os bajuladores, os guarda-costas, os funcionários da galeria e o director apareceram por trás dele e em poucos segundos os Perowne viram-se sozinhos na galeria com os tijolos, como se nada tivesse acontecido.
Ao ver do seu carro as múltiplas imagens ora do entrevistador, ora do convidado, Perowne pergunta a si próprio se esses momentos, essas facadas de dúvida e pânico serão cada vez mais frequentes nos dias e nas noites do primeiro-ministro. Pode não haver uma segunda resolução das Nações Unidas. O próximo relatório dos inspectores também pode ser inconclusivo. Os Iraquianos podem usar armas biológicas contra os invasores. Ou, como um antigo inspector teima em insistir, pode já não haver armas de destruição em massa. Fala-se de fome e de três milhões de refugiados, e estão já a ser preparados campos para os acolher na Síria e no Irão. A ONU prevê centenas de milhares de mortos entre os Iraquianos. Pode haver ataques de retaliação em Londres. E os Americanos continuam bastante vagos no que respeita aos planos para o pós-guerra. Talvez não os tenham. Em suma, Saddam pode ser derrubado, mas por um preço demasiado alto. É um futuro que ninguém pode prever. Os ministros reafirmam a sua lealdade, há vários jornais que apoiam a guerra, no país há uma quantidade razoável de pessoas ansiosas que a apoiam, havendo também muitas que discordam dela, mas ninguém tem dúvidas de que na Grã-Bretanha há uma, e só uma pessoa, a conduzir a questão. Suores nocturnos, sonhos horríveis, as fantasias impiedosas e entrecortadas da insónia? Ou apenas solidão? Sempre que o vê no ecrã, Henry procura uma consciência do abismo, essa fenda da grossura de um cabelo, o momento em que o rosto fica imóvel, a breve hesitação que testemunhou em privado. Mas a única coisa que vê é certeza ou, na pior das hipóteses, uma seriedade forçada.
Encontra um lugar de estacionamento para residentes do outro lado da rua, mesmo à frente da porta da sua casa. Ao tirar o saco das compras da mala do carro, vê na praça, preguiçosamente sentados no banco mais próximo da sua casa, os mesmos jovens que costumam lá estar ao fim da tarde e depois outra vez a altas horas da noite. São dois indivíduos das índias ocidentais e dois, às vezes três, do Médio Oriente, talvez turcos. Todos eles têm um ar
próspero e satisfeito e muitas vezes encostam-se aos ombros uns dos outros e riem-se com sonoras gargalhadas. Na curva está um Mercedes, do mesmo modelo do de Perowne, mas preto, com uma pessoa sentada ao volante. De vez em quando há um desconhecido que pára a falar com o grupo. Um deles vai até ao carro, fala com o condutor, volta para junto dos outros, trocam opiniões, e o desconhecido continua o seu caminho. São reservados e nada ameaçadores. Durante muito tempo, Perowne achou que eram traficantes de droga, que tinham ali um posto de venda talvez de cocaína, ou ecstasy e marijuana. Os seus clientes não parecem suficientemente assombrados ou degradados para serem consumidores de heroína ou de crack. Foi Theo que corrigiu o pai. O grupo vende bilhetes para concertos de grupos marginais de rap por toda a cidade. Também vendem CD piratas e arranjam bilhetes baratos para voos de longa distância, instalações e DJ para festas, limusinas para casamentos e aeroportos e seguros de saúde e de viagem mais baratos; contra uma comissão, apresentam pessoas que pretendem exilar-se ou estrangeiros ilegais a solicitadores. Não pagam impostos nem têm despesas administrativas e por isso os seus preços são altamente competitivos. Sempre que Perowne os vê tem um desejo vago, como está a acontecer no momento em que vai a atravessar a rua em direcção à sua porta, de lhes pedir desculpa. Um dia há-de comprar-lhes qualquer coisa.
Theo está na cozinha, talvez a preparar um dos seus pequenos-almoços de fruta e iogurte. Henry deixa o peixe no cimo das escadas, cumprimenta-o lá de cima e sobe ao segundo andar. O quarto está demasiado quente e claustrofóbico, e despojado por causa da luz do dia. Tem muito melhor aspecto e é muito mais acolhedor sob a luz ténue dos candeeiros, depois de um dia de trabalho e com a perspectiva de uma noite de sono; estar ali ao princípio da tarde fá-lo pensar em constipações. Tira os ténis, descalça as meias húmidas e põe-nas no cesto da roupa suja e vai até à janela do meio para a abrir. E lá está ele outra vez, ou talvez seja outro, mesmo por baixo da sua janela, a dar lentamente a curva no sítio onde a rua se cruza com a praça. Quase só consegue ver o tejadilho, e a sua linha de visão do espelho lateral está completamente tapada, mesmo quando se debruça à janela. Também não consegue ver o condutor nem qualquer dos passageiros. Vê-o dar a volta pelo lado norte da praça e voltar à direita para Conway Street e desaparecer. Desta vez não se sente tão distanciado. Mas então como se sente? Interessado ou ligeiramente perturbado? A marca é vulgar e até há dois ou três anos o vermelho era uma das suas cores preferidas. Por outro lado, porquê afastar a possibilidade de ser Baxter? A sua situação é terrível e fascinante - a sua vida dura de homem da rua deve ter camuflado o desejo de uma vida melhor, ainda antes de a doença degenerativa ter dado os seus primeiros sinais. Perowne afasta-se da janela e dirige-se à casa de banho. Baxter nem precisaria de o seguir. O Mercedes dá bastante nas vistas e está estacionado mesmo à frente de casa. É verdade que gostava de ver Baxter outra vez, no horário das consultas, de ficar a conhecer melhor a sua história e de lhe dar alguns contactos úteis. Mas Henry não quer que ele ande a vaguear pela praça.
Quando acaba de se despir, o telemóvel toca por baixo do monte de roupa que deixou cair aos seus pés. Procura-o e atende.
- Querido? - diz Rosalind.
Finalmente. Que momento poderia ser melhor? Com o telefone na mão, deita-se nu, de costas, em cima da cama ainda desfeita, onde algumas horas antes fizeram amor. Sente na sua pele exposta ondas de calor vindas dos radiadores, como uma brisa do deserto. O termostato está alto de mais. Tem uma ligeira erecção. Se ela não estivesse a trabalhar, se não fosse um fim-de-semana de crise no jornal, se o seu editor de falinhas mansas não fosse tão maçador quando está em causa a liberdade de imprensa, ela e Henry poderiam estar ali juntos agora. É ali que por vezes passam uma ou duas horas nas tardes de sábado no Inverno. A sexualidade do entardecer.
O espelho da casa de banho, com a ajuda de uma boa iluminação e de um ângulo correcto, permite a Henry lembrar-se de vez em quando da sua juventude. Mas Rosalind, por um truque qualquer de luz interior ou pela forma louca como a ama, continua a parecer-se imenso, constantemente, com a mulher que conheceu há muitos anos. Talvez uma irmã mais velha dessa Rosalind, mas ainda não a mãe. Quanto tempo poderá continuar assim? No essencial, certos elementos individuais continuam iguais: a palidez quase luminosa da pele - a sua mãe, Marianne, era de origem celta; as sobrancelhas finas, delicadas - quase inexistentes; aqueles olhos verdes calmos e suaves; e os seus dentes, sempre brancos (os dele estão a ficar cinzentos), os de cima perfeitos, os de baixo ligeiramente inclinados - uma imperfeição infantil que ele nunca quis que ela reparasse; a forma como o seu sorriso sincero se rasga a partir de um esboço tímido; nos lábios, um brilho rosa-alaranjado inteiramente seu; o cabelo, agora curto, ainda ruivo acastanhado. Quando está descontraída, o seu rosto tem um ar de inteligência alegre, com o mesmo desejo intacto de divertimento. Continua a ser um rosto belo. Como qualquer pessoa de quarenta anos, tem os seus momentos de desânimo, abatida à frente do espelho antes de ir para a cama. Ele próprio já viu em si esse olhar rígido de apreciação despótica. Vamos todos a viajar na mesma direcção. É compreensível que ela não fique inteiramente convencida quando ele lhe diz que adora a gordura suave das suas ancas ou o volume dos seus seios. Mas é verdade. Adoraria estar ali deitado com ela agora. Supõe que o estado de espírito dela seja muito diferente do seu, com os fatos escuros que costuma levar para o trabalho, a entrar e a sair de reuniões, e por isso senta-se na cama para ser mais sensato a falar com ela.
- Como é que vão as coisas?
- O juiz está preso num engarrafamento na ponte de Blackfriars. É por causa da manifestação. Mas acho que ele nos vai dar o que queremos.
- Anular a proibição?
' - Sim. Na segunda-feira de manhã. ; Parece estar com pressa e satisfeita.
- És um génio - diz Henry. - E o teu pai?
- Não posso ir buscá-lo ao hotel por causa da manifestação. O trânsito está um caos. Ele vai de táxi. - Faz uma pausa e pergunta, com um ritmo um pouco menos acelerado: - E tu, como é que estás? - A inflexão descendente e o prolongamento da última palavra estão cheios de ternura; são uma referência clara à manhã daquele dia. Estava enganado em relação ao estado de espírito dela. Está prestes a dizer-lhe que está deitado nu em cima da cama, que a deseja, mas muda de ideias. Não é altura para excitações ao telefone, quando tem de voltar a sair e ela tem de trabalhar. Aliás, tem coisas mais importantes para lhe dizer que vão ter de esperar até depois do jantar ou à manhã do dia seguinte.
- Vou a Perivale assim que tomar um duche - diz. Mas, como isto não responde à pergunta dela, acrescenta:
- Estou bem, mas estou desejoso de estar ao pé de ti. - Isto também não lhe parece suficiente e por isso acrescenta:
- Aconteceram várias coisas que quero contar-te.
- Que coisas?
- Nada de mal. Prefiro falar contigo quando estiver ao pé de ti.
- Está bem. Mas dá-me uma pista.
- Ontem à noite, como não conseguia dormir, fui para a janela e vi aquele avião de carga russo.
- Deve ter sido assustador, querido. E que mais? Hesita, e a sua mão, por vontade própria, acaricia a
zona à volta da ferida no peito. Qual seria o título, como ela costuma dizer? Violência no trânsito.
Tentativa de agressão. Doença neurológica. Espelho lateral. Espelho retrovisor.
- Perdi o jogo de squash. Estou a ficar velho para aquilo.
- Não acredito que seja isso - diz Rosalind, com uma gargalhada. Parece mais tranquila. - Esqueceste-te de uma coisa. O Theo tem um ensaio importante hoje à tarde. Há uns dias ouvi-te prometeres que ias lá.
- Bolas! A que horas é? - Não se lembra de ter feito essa promessa.
- Às cinco, naquele sítio em Ladbroke Grove.
- É melhor despachar-me.
Levanta-se da cama e leva o telemóvel para a casa de banho para se despedirem.
- Adoro-te.
- Adoro-te - responde Rosalind e desliga.
Henry põe-se debaixo do chuveiro, uma cascata forte bombeada do terceiro andar. Quando aquela civilização se desmoronar, quando os Romanos, sejam eles quem forem desta vez, partirem, e começar uma nova idade das trevas, este será um dos primeiros luxos a desaparecer. Os anciãos, acocorados junto à fogueira, contarão às crianças incrédulas que as pessoas tomavam banho nuas em pleno Inverno sob jactos de água quente e limpa, que tinham sabões perfumados e uns líquidos viscosos amarelados e vermelho-vivos com que esfregavam o cabelo para o tornar mais brilhante e mais volumoso do que era na realidade, e ainda uns toalhões brancos quase do tamanho de togas à sua espera em toalheiros aquecidos.
Anda de fato e gravata cinco dias por semana. Hoje vestiu umas calças de ganga e uma camisola e calçou umas botas castanhas, e quem é que vai dizer que ele próprio não é um grande guitarrista da sua geração? Ao dobrar-se para apertar os atacadores sente uma forte dor nos joelhos. Não faz sentido esperar até fazer cinquenta anos. Vai manter o squash por mais seis meses e fazer uma última maratona de Londres.
Conseguirá aguentar que essas duas coisas sejam passatempos do passado? Ao espelho, é pródigo no aftershave - sobretudo no Inverno há por vezes um cheiro no ar no lar da terceira idade que prefere contrariar.
Sai do quarto e, de lado, desce o primeiro lanço de escadas a dois e dois, sem se agarrar ao corrimão. É um truque que aprendeu na adolescência e que hoje em dia consegue fazer melhor do que nunca. Mas uma bota que escorregue, um cóccix partido, seis meses de costas na cama, um ano a reconstituir os músculos enfraquecidos - essa fantasia premonitória ocupa-o por menos de um segundo, mas funciona. Desce o lanço seguinte da forma normal.
Na cozinha, na cave, Theo já pôs o peixe no frigorífico. A televisão está sem som e a imagem mostra um helicóptero a sobrevoar Hyde Park. Os manifestantes surgem como uma mancha castanha, como líquen numa rocha. Theo preparou o seu pequeno-almoço numa grande tigela de salada, onde está quase um quilo de farinha de aveia, farelo, frutos secos, mirtilos, framboesas, passas, leite, iogurte, e pedaços de tâmaras, maçãs e bananas.
- És servido? - pergunta Theo, acenando para a tigela.
- Como o que tu deixares.
Henry tira um prato com frango e batatas cozidas do frigorífico e come de pé. O filho está sentado num banco alto na bancada central, debruçado sobre a sua gigantesca tigela. Ao lado das migalhas, dos restos de papel e das cascas da fruta estão algumas pautas manuscritas com acordes assinalados a lápis. Os seus ombros são largos, e os músculos dobrados esticam o tecido da t-shirt branca. O cabelo, a pele dos braços desnudados, as sobrancelhas espessas castanho-escuras continuam a parecer tão recentes e suaves como quando Theo tinha quatro anos.
- Ainda não te sentes tentado? - pergunta Perowne, apontando para a televisão.
- Tenho estado a ver. Dois milhões de pessoas. É verdadeiramente espantoso.
Naturalmente, Theo é contra a guerra do Iraque. A sua atitude é tão firme e pura como os seus ossos e a sua pele. Tão firme que não sente muita necessidade de andar pelas ruas para fazer valer a sua posição.
- Quais são as últimas sobre o avião? Ouvi a notícia de que tinham sido presos.
- Não dizem nada. - Theo deita mais leite na tigela. - Mas há uns boatos na Internet.
- Sobre o Corão.
- Os pilotos são radicais islâmicos. Um é checheno e o outro argelino.
Perowne puxa um banco e quando se senta sente o apetite desaparecer. Empurra o prato para o lado.
- Então qual era a ideia? Pegam fogo ao avião onde vêm em nome da Jihad e depois aterram em segurança em Heathrow?
- Perderam a coragem.
- Então a ideia deles era juntarem-se à manifestação?
- Mais ou menos. Era uma maneira de afirmarem a sua posição. É isto que acontece a quem faz guerra contra a nação árabe.
Não parece plausível. Mas em geral os homens têm tendência para acreditar. E quando vêem que se enganaram mudam de lado. Ou então têm fé e continuam a acreditar. Com o tempo, ao longo das gerações, esta atitude tem sido talvez a mais eficaz: em caso de dúvida, acreditar. Perowne passou o dia a achar que a história não era o que parecia, e agora Theo está a reforçar essa ideia sugerindo-lhe que ainda não ouviu tudo. Por outro lado, se os rumores sobre o avião vêm da Internet, aumentam as possibilidades de não serem verdadeiros.
Henry conta de forma sucinta o que aconteceu com Baxter e os amigos, fala dos sintomas da doença de Huntington e da saída airosa que arranjou.
- Humilhaste-o - diz Theo. - É melhor teres cuidado.
- Que queres dizer com isso?
- Esses tipos da rua às vezes são muito orgulhosos. Além disso, até custa a acreditar que moremos aqui há tanto tempo e que tu e a mãe nunca tenham sido assaltados.
Perowne olha para o relógio e levanta-se.
- Eu e a mãe não temos tempo para isso. Vemo-nos por volta das cinco em Notting Hill.
- Vais lá. Excelente!
Não o ter pressionado faz parte do encanto de Theo. Se o pai não aparecesse, também não diria nada.
- Comecem sem mim. Sabes como é vir do lar da avó.
- Vamos ensaiar a canção nova. O Chás vai lá estar. Vamos aguentar até tu chegares.
Chás é o amigo de Theo de quem Perowne mais gosta e é também o mais educado. Desistiu do curso de Inglês na Universidade de Leeds no terceiro ano para tocar numa banda. É um milagre que a vida que ele tem tido, com o suicídio da mãe, um pai ausente, dois irmãos membros de uma seita baptista, não o tenha feito perder o seu bom feitio. Deve ter sido qualquer coisa no nome de St. Kitts (santos, miúdos, gatinhos) que produziu tanta amabilidade num gigante. Desde que o conhece que Perowne tem alimentado um vago desejo de visitar a ilha.
Pega num vaso com uma planta que está num canto da sala, uma orquídea cara que comprou há alguns dias na florista ao pé do Heal's. Pára à porta e levanta uma mão em despedida.
- Hoje sou eu que faço o jantar. Não te esqueças de deixar a cozinha em ordem.
- Está bem. - Depois Theo acrescenta sem ironia: - Dá cumprimentos meus à avó. Diz-lhe que gosto muito dela.
Lavado e perfumado, com uma dor ligeira, quase agradável, nos membros, dirigindo-se para oeste no meio de um trânsito fluido, Perowne sente que já não lhe custa tanto ir visitar a mãe.
Já está bastante familiarizado com aquela rotina. Quando já estão frente a frente, com as suas chávenas de chá escuro, a tragédia da situação dela fica obscurecida pela banalidade dos pormenores, pela gestão daqueles minutos sufocantes, pelo esforço de fingir que está a ouvi-la com atenção. Não é difícil estar com ela. O pior é quando se vem embora, antes de a visita se misturar na sua memória com tudo o resto, quando a mulher que ela foi noutros tempos o assombra quando está à porta e se baixa para lhe dar um beijo de despedida. É nessa altura que sente que está a traí-la, quando a deixa na sua vida limitada e foge para a abundância, para o tesouro escondido da sua existência. Apesar desse sentimento de culpa, não pode negar o alívio que sente, a ligeireza do seu passo quando vira as costas e se afasta do lar da terceira idade, tira as chaves do carro do bolso e abraça as liberdades que ela não pode ter. Tudo o que ela tem actualmente cabe no seu pequeno quarto. Aliás, o quarto nem pode considerar-se seu, porque não consegue dar com ele sem ajuda, nem sequer sabe que tem um quarto. E quando lá está não reconhece as coisas dela. Já não é possível levá-la a sua casa, nem levá-la a excursões, porque qualquer viagem, por pequena que seja, a desorienta e assusta. Por isso tem de ficar ali, mas, naturalmente, também não compreende isso.
Mas a ideia da despedida que terá de enfrentar não o incomoda naquele momento. Sente-se finalmente inundado pela suave euforia que se segue ao exercício físico. Aquele bendito opiáceo natural, a betaendorfina, que mitiga todas as dores. No rádio, há uma alegre peça para cravo de Scarlatti que desfia uma progressão de acordes sem nunca chegar a uma conclusão e que parece encaminhá-lo para um destino que, a brincar, se vai afastando dele. Pelo retrovisor não avista qualquer BMW. Naquele troço, onde a Euston Road dá lugar à Marylebone, os sinais de trânsito são accionados sequencialmente, ao estilo de Manhattan, e ele está a ser bafejado por uma onda verde, como um surfista numa onda perfeita de informações simples: em frente! Ou apenas yes! A longa fila de turistas - sobretudo adolescentes - à porta do Madame Tussaud parece menos fútil do que é habitual; uma geração criada com estrepitosos efeitos de Hollywood ainda anseia por escancarar a boca à frente das figuras de cera, como camponeses do século XVIII numa feira no campo. O desorganizado Westway, que se ergue sobre pilares de betão manchados e que ele sobe rapidamente, proporciona subitamente um horizonte de nuvens por cima de um tumulto de telhados. É um daqueles momentos em que sabe bem ser dono de um carro numa cidade, ser o dono daquele carro. Pela primeira vez em muitas semanas, vai em quarta. Talvez até meta a quinta. Um sinal numa baliza por cima das faixas de rodagem indica Oeste e Norte, como se, para lá dos subúrbios, estivesse todo um continente e a promessa de uma viagem de seis dias.
O trânsito deve estar interrompido algures pela manifestação. Durante quase um quilómetro a estrada é só sua. Ao longo de vários segundos tem a sensação de partilhar da visão dos criadores daquela via elevada - um mundo mais puro que favoreça as máquinas e não as pessoas. Uma curva rectilínea fá-lo passar por uns quantos edifícios recentes de escritórios, de vidro e alumínio, com as luzes já acesas naquele princípio de tarde de Fevereiro. Consegue ver pessoas tão aprumadas como modelos arquitectónicos, sentadas à secretária, a olhar para os monitores, mesmo num sábado. É o futuro asseado dos livros de banda desenhada de ficção científica da sua infância - homens e mulheres de fatos justos, sem colarinho, sem bolsos, sem atacadores a arrastar-se pelo chão, sem camisas fora das calças - a viverem uma vida desprovida de lixo e de barafunda, livre de confusões, para poderem combater o mal.
De um ponto alto do viaduto de White City, antes de a estrada regressar à terra por entre fileiras de casas de tijolo vermelho, vê as luzes de stop adensarem-se e começa a travar.
A sua mãe nunca se incomodou com semáforos nem com longas demoras. Há apenas um ano ainda estava bastante bem - esquecida, vaga, mas não assustada - para gostar de andar com ele de carro pelas ruas do oeste de Londres. Os semáforos davam-lhe a oportunidade de observar atentamente os condutores e passageiros dos outros carros. «Olha para aquele. Tem a cara cheia de manchas.» Ou de dizer simplesmente, para fazer companhia: «Outra vez vermelho!»
Dedicara toda a vida ao trabalho doméstico, às rotinas diárias de puxar o lustro, limpar o pó, aspirar e limpar que noutros tempos eram comuns e que hoje em dia apenas são executadas por doentes com perturbações obsessivas compulsivas. Todos os dias, enquanto Henry estava na escola, ela limpava a casa de alto a baixo. As coisas que lhe davam mais satisfação eram um tabuleiro de carne bem assada, o brilho de uma mesa, uma pilha de lençóis engomados e impecavelmente dobrados, uma despensa bem abastecida; ou mais um casaquinho de tricot para mais um bebé de um ramo distante da família. Tudo estava limpo pelo lado de fora, pelo lado de dentro, por trás e pela frente. O forno e as grelhas eram esfregados após cada utilização. A ordem e a limpeza eram a expressão exterior de um ideal de amor que não era revelado. Qualquer livro que ele estivesse a ler era imediatamente arrumado na estante do corredor do andar de cima mal ele o pousasse. O jornal da manhã podia já estar no lixo à hora de almoço. As garrafas de leite vazias que punha à porta para serem levadas estavam tão limpas como as facas da cozinha. Tudo tinha o seu lugar numa gaveta, numa prateleira ou num cabide, incluindo os seus diversos aventais e as suas luvas amarelas de borracha, penduradas num gancho ao lado do relógio em forma de ovo que marcava o tempo de cozedura dos ovos.
É certamente por causa dela que Henry se sente em casa no bloco operatório. Ela gostaria do chão preto encerado, dos ferros cirúrgicos dispostos em filas paralelas nos campos esterilizados e da sala de desinfecção com as suas rotinas quase de devoção - teria admirado a minúcia, as toucas limpas, as unhas curtas. Devia tê-la levado lá enquanto ela ainda estava capaz. Nunca pensara nisso. Nunca lhe ocorrera que o seu trabalho, os seus quinze anos de formação, tivessem alguma coisa a ver com o que ela fazia.
Isso também não lhe ocorrera a ela. Na altura, mal o sabia, mas crescera a achar que ela era pouco inteligente e pouco curiosa. Mas estava enganado. Ela gostava de uma boa e sincera conversa exploratória com as vizinhas. Aos oito anos, Henry gostava de se deitar no chão atrás da mobília para ouvir. Doenças e operações eram assuntos importantes, sobretudo quando associadas à infância. Foi nessa altura que ouviu pela primeira vez as frases «ir à faca» e «ir ao médico». «O que o médico disse» era uma invocação poderosa. Estas escutas podem ter encaminhado Henry para a sua carreira. Havia também longas histórias de infidelidades, ou rumores de infidelidades, de filhos ingratos, da falta de bom senso dos idosos, do que os pais de alguém tinham deixado em testamento e de como uma certa rapariga simpática não conseguia arranjar um marido decente. Era preciso separar as pessoas boas das más, e nem sempre era fácil dizer imediatamente quem pertencia a que grupo. Mais tarde, quando fez as inevitáveis investidas no romance do século xix, durante o curso de Daisy, reconheceu todos os temas da sua mãe. Não havia qualquer tacanhez nos seus interesses. Eles eram partilhados por Jane Austen e por George Eliot. Lilian Perowne não era estúpida nem vulgar, a sua vida não era lamentável, e ele não devia ter sido condescendente para com ela quando era novo. Agora era tarde de mais para pedir desculpa. Ao contrário do que acontece nos romances de Daisy, os momentos de verdadeiros ajustes de contas são raros na vida real; as más interpretações ficam, muitas vezes, por resolver. Também não ficam a exercer pressão por não serem resolvidas. Apenas se esbatem.
As pessoas não se lembram bem, ou morrem, ou morrem os problemas, e o seu lugar é ocupado por novos problemas.
Além disso, Lily tinha uma outra vida que ninguém podia ter previsto, nem de longe supor hoje em dia. Fora nadadora. Numa manhã de domingo, no dia 3 de Setembro de 1939, quando Chamberlain anunciava numa declaração emitida pela rádio a partir de Downing Street que o país estava em guerra com a Alemanha, Lily, com catorze anos, estava numa piscina municipal perto de Wembley a ter a sua primeira lição com uma atleta de sessenta anos que representara a Inglaterra nos Jogos Olímpicos de Estocolmo de 1912 - a primeira competição de natação feminina de sempre. Vira Lily na piscina e oferecera-se para lhe dar lições de graça. Ensinou-a a nadar crawl, um estilo muito pouco feminino. Lily participou nos campeonatos locais nos anos quarenta. Em 1954 representou o Middlesex nos campeonatos intercondados. Ficou em segundo lugar, e a sua pequena medalha de prata esteve sempre por cima da lareira, numa caixa de madeira de carvalho, durante a infância e adolescência de Henry. Agora está numa prateleira no quarto dela. Aquela medalha de prata foi o maior prémio que ela recebeu, mas sempre nadou muito bem, suficientemente depressa para romper as maiores e mais sinuosas ondas que se lhe deparassem.
Claro que ensinou Henry a nadar, mas a recordação que guardava com mais carinho era de quando, aos dez anos, foi a uma visita à piscina local com a escola. Ele e os amigos já se tinham equipado, já tinham tomado duche e estavam parados sobre o chão de mosaicos à espera que acabasse a aula dos adultos. Estavam presentes dois professores, que tentavam a todo o custo conter o entusiasmo das crianças. A certa altura havia apenas uma pessoa na piscina, com uma touca de borracha branca com um friso de pétalas, que ele devia ter reconhecido mais cedo. Toda a turma estava a admirar a velocidade dela quando surgia na pista, o trilho que deixava na água atrás de si e a forma como virava a cabeça de lado para respirar sem que isso interferisse com o seu avanço. Quando viu que era ela convenceu-se de que a tinha reconhecido desde o princípio. Para aumentar ainda mais o seu regozijo, nem sequer teve de anunciar que era ela. Alguém gritou: «É Mrs. Perowne!» Ficaram em silêncio a vê-la chegar ao fim da pista, mesmo junto aos pés deles, e fazer uma vistosa volta por baixo de água, o que na altura era uma novidade. Já a tinha visto nadar muitas vezes, mas aquilo foi algo de inteiramente diferente; todos os amigos dele estavam ali a presenciar a natureza sobre-humana da sua mãe, que ele partilhava também. Claro que ela sabia o que estava a acontecer e, na última pista, deu um show de velocidade demoníaca inteiramente dedicado a ele. Batia os pés, os seus delgados braços brancos elevavam-se e cortavam a água, atrás de si erguia-se uma onda e à sua frente a água baixava. O seu corpo ganhava a forma de um S ondulante em torno dessa onda que ela própria provocava. Era preciso correr ao longo da piscina para conseguir acompanhá-la. Parou no outro lado da piscina, levantou-se, apoiou as mãos na borda e, com um salto, saiu da água. Nessa altura devia ter quarenta anos. Sentou-se, com os pés dentro de água, tirou a touca e, inclinando a cabeça, sorriu timidamente para eles. Um dos professores incentivou os miúdos a aplaudirem com solenidade. Embora corresse o ano de 1966 - os rapazes estavam a deixar crescer o cabelo por cima das orelhas e as raparigas iam para as aulas de calças de ganga -, ainda havia muita da formalidade dos anos cinquenta. Henry aplaudiu com os colegas, mas quando os amigos se juntaram à sua volta tinha a voz embargada pelo orgulho, estava demasiado excitado para responder às perguntas deles e sentiu-se aliviado quando pôde meter-se na piscina para esconder os seus sentimentos.
Nas décadas de vinte e trinta houve grandes zonas de terrenos agrícolas a oeste de Londres que desapareceram sob a febre de um rápido desenvolvimento urbanístico, e ainda hoje as ruas de casas sombrias e respeitáveis de dois andares não conseguiram desembaraçar-se do seu ar de construções apressadas. Todas as casas, muito semelhantes, parecem contrafeitas, provisórias, como se soubessem que em breve o solo que está por baixo delas voltaria às sementeiras de cereais e às pastagens. Lily vive apenas a alguns minutos da antiga casa da família em Perivale. Henry gosta de pensar que, por entre a paisagem enevoada da sua demência, há abertas ocasionais em que a sensação de familiaridade talvez a tranquilize. Pelos padrões dos lares da terceira idade, em Suffolk Place todos os pormenores foram cuidados. O lar foi construído no espaço antes ocupado por três casas, que foram demolidas, e mais tarde foi-lhe adicionado um anexo. À frente, os limites do antigo jardim continuam marcados por sebes de alfena e ainda lá sobrevivem dois laburnos. Um dos jardins da frente foi cimentado para fazer um parque de estacionamento para dois carros. Os grandes contentores do lixo por detrás de uma vedação são as únicas pistas de que se trata de uma instituição.
Perowne estaciona e tira o vaso com a planta do banco de trás. Faz uma pequena pausa antes de tocar à campainha - há no ar um cheiro doce e vagamente anti-séptico que lhe recorda os anos que passou naquelas ruas enquanto adolescente, num estado permanente de desejo, de fome de viver, que, visto àquela distância, parece quase de felicidade. Como de costume, é Jenny que abre a porta. É uma rapariga irlandesa, grande e alegre, com uma bata azul de xadrez, que vai começar o curso de enfermeira em Setembro. Henry é tratado com uma consideração especial graças ao seu estatuto de médico - três saquetas extra de chá no bule que em breve levará ao quarto da sua mãe e talvez um prato com bolachas de chocolate. Sem saberem muito um do outro, decidiram-se por uma relação brincalhona.
- Olha o meu querido doutor!
- Como é que está a minha linda moçoila?
No estreito corredor, típico das casas suburbanas, com uma luz amarela que vem do vidro da porta da rua, há uma porta que dá para uma cozinha de luz fluorescente e aço inoxidável, de onde sai o cheiro pegajoso do almoço servido aos idosos duas horas mais cedo. Tendo sido exposto durante tanto tempo à comida institucional, Perowne sente por ela uma ligeira predilecção, ou, pelo menos, ela não lhe desperta repugnância. Do outro lado do átrio há uma porta mais pequena que dá para as três salas de estar das três casas, interligadas entre si. Consegue ouvir o som distante das televisões das outras salas.
- Ela está à sua espera - diz Jenny. Ambos sabem que isso é neurologicamente impossível. O próprio tédio está fora do alcance da sua mãe.
Abre a porta e entra. Ela está à sua frente, sentada numa cadeira de madeira junto a uma mesa redonda com uma coberta de veludo. Por detrás dela há uma janela e a uns três metros outra janela já da outra casa. Há outras mulheres dispostas pelos cantos da sala, sentadas em cadeiras de costas altas com braços de madeira curvos. Há uma televisão pendurada na parede fora do alcance delas. Algumas estão a vê-la, outras simplesmente a olhar. Outras estão a olhar para o chão. Agitam-se, parecem balançar, quando ele entra, como se tivessem sido suavemente bafejadas pelo ar que a porta faz deslocar. Há uma resposta geral, alegre, ao seu «Boa tarde, minhas senhoras», e olham para ele com interesse. Nesta fase, ainda não têm a certeza se ele será ou não um familiar seu. À sua direita, no canto mais distante das três salas interligadas, está Annie, uma mulher de cabelos grisalhos revoltos, que irradiam da sua cabeça em madeixas macias. Vem o mais depressa que pode, a arrastar os pés, sem ajuda, em direcção a ele. Quando chega ao fim da terceira sala dá a volta e continua a andar para trás e para a frente durante todo o dia, até que alguém a guia para a mesa ou para a cama.
A sua mãe observa-o atentamente, ao mesmo tempo satisfeita e ansiosa. Acha que conhece aquela cara; talvez seja o médico, ou o homem que vai lá arranjar coisas. Está à espera de uma pista. Ele ajoelha-se e pega-lhe na mão, que é macia, seca e muito leve.
- Olá, mãe, Lily. Sou o Henry, o seu filho Henry.
- Olá, querido. Como estás?
- Vim visitá-la. Vamos sentar-nos no seu quarto.
- Que pena, querido. Não tenho quarto. Estou à espera de ir para casa. Vou apanhar o autocarro.
Custa-lhe muito ouvi-la dizer estas coisas, apesar de saber que se refere à casa da sua infância, onde julga que a mãe está à espera dela. Dá-lhe um beijo no rosto e ajuda-a a levantar-se, sentindo nos seus braços o tremor causado pelo esforço e pelo nervosismo. Como sempre, nos primeiros momentos de consternação que sente ao vê-la os seus olhos ficam a arder.
Ela protesta sem convicção:
- Não sei onde é que queres ir.
Henry não gosta de falar com a jovialidade forçada com que as enfermeiras falam nas enfermarias, mesmo com os doentes adultos sem qualquer deficiência mental. Vá lá, seja boazinha e engula isto. Mas fá-lo, em parte para disfarçar os seus próprios sentimentos.
- A mãe tem um quarto lindo. Assim que o vir vai-se lembrar. Agora vamos por aqui.
De braço dado, atravessam lentamente as outras salas de estar, afastando-se para deixar Annie passar. É reconfortante que Lily esteja bem vestida. As ajudantes sabiam que ele vinha. Está com uma saia vermelho-escura e uma blusa de algodão a condizer, umas meias pretas e uns sapatos pretos. Está sempre bem vestida. A geração dela deve ter sido a última a preocupar-se com os chapéus. Havia sempre uma série deles, todos parecidos, na prateleira de cima do roupeiro dela, aninhados num reduto de naftalina.
Quando chegam ao corredor ela volta para a esquerda e ele tem de pôr a mão sobre o seu ombro estreito para a guiar para o outro lado.
- Cá está. Reconhece a porta?
- Nunca vim para este lado.
Abre-lhe a porta e fá-la entrar. O quarto tem uns dois metros e meio por três, com uma porta envidraçada que dá para um pequeno jardim nas traseiras. A cama, de pessoa só, tem um edredão às flores e sobre ela estão alguns brinquedos que faziam parte da sua vida muito antes de ter adoecido. Alguns dos outros ornamentos - um pisco pousado num ramo de madeira, dois esquilos de vidro com formas exageradas - estão num armário de canto de vidro. Outros estão arrumados num aparador junto da porta. Na parede por trás do lavatório está uma fotografia de Lily e de Jack, o pai de Henry, num jardim. A fotografia ainda apanha a pega de um carrinho de bebé, onde presumivelmente estaria deitado Henry. Está bonita, com um vestido branco de Verão e a cabeça inclinada com aquele jeito tímido, enigmático, de que Henry se lembra tão bem. O homem, ainda novo, está a fumar um cigarro e tem vestido um blazer e uma camisa branca aberta no pescoço. É alto, ligeiramente curvado, e tem umas mãos grandes como o filho. Tem um sorriso rasgado e despreocupado. É sempre útil ter provas consistentes de que os idosos foram felizes quando eram novos. Mas há também um elemento algo ridículo na fotografia. O casal parece vulnerável, um alvo fácil de troça, por não saber que a sua juventude é apenas um episódio nem que aquele objecto saboroso que arde na mão direita de Jack irá contribuir - é uma teoria de Henry - para a sua morte súbita nesse mesmo ano.
Não tendo conseguido lembrar-se da existência do seu quarto, Lily não fica surpreendida por se encontrar nele.
Esquece instantaneamente que não sabia que ele existia. No entanto, hesita, sem saber onde há-de sentar-se. Henry acompanha-a até à cadeira de costas altas junto à janela e senta-se de frente para ela na beira da cama. Está um calor terrível, ainda mais do que no quarto dele. Talvez o seu sangue ainda esteja sob o efeito do jogo, do duche quente e do calor do quarto. Gostaria de se deitar na cama, de pensar no seu dia e talvez de passar pelas brasas. De repente a sua vida parece-lhe extremamente interessante, vista dos confins daquele quarto. Naquele momento, com o edredão por baixo dele e o calor sente um peso nos olhos e não consegue deixar de os fechar. E a visita ainda há pouco começou. Para despertar, tira a camisola e depois mostra a Lily a flor que trouxe.
- Olhe - diz. - É uma orquídea para o seu quarto. Quando lhe estende o vaso e a frágil flor branca balança entre eles, ela encolhe-se.
- Porque é que tens isso?
- É para si. Vai estar sempre em flor durante todo o Inverno. Não é bonita? É para si.
- Não é minha - diz Lily com firmeza. - Nunca vi isso. Teve a mesma conversa de surdos da última vez.
A doença progride através de pequenos trombos, que passam despercebidos, nos vasos sanguíneos do cérebro. A sua acumulação provoca um declínio cognitivo, pela desintegração das redes neurais. Pouco a pouco, está a perder o conhecimento. Agora perdeu a percepção da ideia de presente, e com ela o prazer de o receber. Adoptando mais uma vez o tom da enfermeira jovial, diz-lhe:
- Vou pô-la num sítio onde possa vê-la.
Ela prepara-se para protestar, mas a sua atenção dispersa-se. Tem algumas peças decorativas de porcelana numa prateleira por cima da cama, mesmo por detrás do filho. De repente assume um tom conciliatório.
- Tenho muitos pires e chávenas. Por isso, posso sempre sair com um deles. O problema é o espaço entre as pessoas ser tão pequeno - levanta duas mãos trémulas para lhe mostrar um intervalo - que quase não se consegue passar entre elas. Há demasiadas ligações.
- Concordo - diz Henry, recostando-se de novo na cama. - Há demasiadas ligações.
As lesões dos coágulos dos pequenos vasos tendem a acumular-se na substância branca e a destruir a conectividade da mente. Ao longo desse processo, antes de ele estar concluído, Lily vai conseguindo debitar os seus tratados incoerentes, os seus monólogos absurdos, com uma seriedade comovente. Não duvida nem um bocadinho de si própria. Também não pensa que ele não é capaz de a seguir. A estrutura das frases mantém-se intacta, e as inflexões das suas várias descrições fazem sentido. Gosta de o ver acenar com a cabeça e sorrir, e concordar com ela de vez em quando.
Não olha para ele enquanto tenta organizar as ideias; olha para lá dele, concentrando-se em qualquer coisa que lhe escapa, como se estivesse a olhar por uma janela para uma paisagem sem fim. Vai para falar, mas fica em silêncio. Os seus olhos verdes pálidos, afundados em reentrâncias de pele castanho-claras finamente enrugada, parecem pedras cobertas de pó vistas sob um vidro, sem brilho, sombrios. Dão a sensação de não compreenderem nada. Henry não consegue dar-lhe notícias da família - a referência a nomes desconhecidos, a quaisquer nomes, pode deixá-la alarmada. Por isso, embora ela não perceba, ele fala-lhe muitas vezes do seu trabalho. O que a atrai é o som, o tom emocional de uma conversa amigável.
Prepara-se para lhe falar de Andrea Chapman, de como está a recuperar bem, quando de repente Lily começa a falar. A sua voz parece ansiosa, até um pouco quezilenta.
- E sabes aquela coisa... tu sabes, tia, aquela coisa que as pessoas põem nos sapatos para eles... tu sabes?
- Graxa? - Não percebe porque é que ela lhe chama tia, nem sabe qual das suas muitas tias está a assombrá-la.
- Não, não. Põem aquilo por cima dos sapatos e esfregam com um pano. Bem, é parecido com graxa. É mais ou menos isso. Tínhamos bancadas e só Deus sabe mais o quê ao longo da rua. Tínhamos tudo menos aquilo de que precisávamos, porque estávamos no sítio errado.
De repente, ri-se. As coisas estão a ficar mais claras para ela.
- Se virares o quadro ao contrário e tirares a parte de trás como eu fiz vais achar tanta piada. Era esse o segredo. Rimo-nos tanto!
E ri-se alegremente, como fazia dantes, e ele também se ri. Era esse o segredo. Agora está longe, está a descrever o que talvez seja a memória desintegrada de uma festa na rua e de uma pequena aguarela que comprou uma vez numa venda de caridade.
Passado algum tempo, quando Jenny chega com os refrescos, Lily olha fixamente para ela sem a reconhecer. Perowne levanta-se e liberta algum espaço numa mesa baixa. Repara no ar de desconfiança com que Lily observa alguém que toma por um desconhecido e por isso, assim que Jenny sai, antes de Lily poder falar, Henry diz-lhe:
- É mesmo uma rapariga encantadora. Sempre prestável.
- É maravilhosa - concorda Lily.
A recordação de quem esteve no quarto já está a desaparecer, mas a deixa emocional dele é irresistível, e ela sorri imediatamente e começa a elaborar novos pensamentos, enquanto ele tira as seis saquetas de chá do bule de metal.
- Vem a correr, mesmo que o caminho seja estreito. Quer vir numa daquelas coisas compridas, mas não tem bilhete. Mandei-lhe o dinheiro, mas ela não o tem na mão. Quer música, e eu disse-lhe que talvez tu trouxesses uma banda e tocasses. Mas estou preocupada com ela. Perguntei-lhe porque é que punha tantas fatias numa tigela se ninguém estava de pé? Não pode ser ela a fazer aquilo.
Ele sabe de quem ela está a falar e fica à espera de mais. Depois diz:
- Devia ir vê-la.
Há muito tempo que não tenta explicar-lhe que a mãe dela morreu em 1970. Agora é mais fácil apoiar a ilusão e manter a conversa. Tudo pertence ao presente. A sua preocupação imediata é impedir que ela coma uma saqueta de chá, como quase aconteceu da última vez. Empilha-as num pires que põe no chão junto ao seu pé. Põe uma chávena meio cheia ao alcance dela e dá-lhe um biscoito e um guardanapo. Ela abre-o por cima do colo e coloca cuidadosamente o biscoito no centro. Leva a chávena aos lábios e bebe. Em momentos como aquele, quando ela executa bem rotinas há muito estabelecidas e está bem arranjada, com as suas roupas a condizer, uma velhota de 77 anos com um aspecto perfeito, com umas pernas espantosas para a sua idade, ele consegue imaginar que foi tudo um erro, um sonho mau e que ela deixará o seu quarto minúsculo e irá com ele para o centro da cidade e comerá sopa de peixe com a nora e os netos e ficará algum tempo lá em casa.
- Estive lá na semana passada, tia - diz Lily. - Fui de autocarro, e a minha mãe estava no jardim. Disse-lhe: «Vais lá, vês o que é que tens e depois equilibras tudo.» Ela não está bem. São os pés. Vou lá um minuto e perco logo uma camisola dela.
Como teria sido estranho para a mãe de Lily, uma mulher reservada, nada maternal, saber que aquela menina pequenina que andava agarrada às saias dela iria um dia, num futuro remoto, numa data de ficção científica no século seguinte, passar todo o tempo a falar dela e a ansiar por estar em casa com ela. Se calhar isso tê-la-ia tornado mais terna.
Agora Lily vai ficar a falar enquanto ele estiver ali sentado. É difícil dizer se é feliz. Às vezes ri-se, outras vezes descreve discussões e ofensas sombrias, e a sua voz assume um tom indignado. Em muitas das situações que invoca está a argumentar com um homem que não percebe o sentido do que ela diz.
- Disse-lhe que era qualquer coisa que ia de licença e ele disse que não queria saber e que eu podia deitar isso fora. Eu disse-lhe que não deixasse aquilo ficar ao lume. E as coisas todas novas que é preciso ir buscar.
Quando ela fica muito agitada com a história que está a contar, Henry atalha, ri-se muito alto e diz: «Essa tem muita piada, mãe!» Como é sugestionável, ela também se ri e a sua disposição muda, e logo a seguir conta uma história mais feliz. Por agora parece neutra - há um relógio e uma camisola que aparece repetidamente, um espaço demasiado estreito para se passar - e, enquanto bebe o chá forte, meio a ouvir, meio a dormir no calor abafado do pequeno quarto, Henry pensa que daí a trinta e cinco anos ou menos pode ser ele, despojado de tudo o que faz e tem, uma figura engelhada a andar sem destino à frente de Theo ou Daisy, enquanto eles esperam até poderem voltar para uma vida que estará para lá da compreensão dele. Uma tensão arterial alta é um forte indicador da possibilidade de ter um AVC. Da última vez tinha doze vírgula dois e seis vírgula cinco. A sistólica podia ser mais baixa. O colesterol total era cinco ponto dois. Nada bom. Diz-se que a presença de níveis elevados de lipoproteínas pode estar fortemente associada à demência multi-enfartes. Nunca mais come ovos, vai passar a beber sempre leite meio gordo com o café e até o café vai ter de deixar um dia. Não está preparado para morrer, nem está preparado para ficar meio morto. Quer a sua substância branca prodigiosamente conectada e rica em mielina intacta, como um campo de neve imaculado. Queijo também não pode ser. Vai ser impiedoso consigo próprio na luta por uma saúde ilimitada para evitar o destino da mãe. A morte da mente.
- Pus seiva no relógio - está ela a dizer-lhe -, para ficar mais húmido.
Passa uma hora, ele esforça-se por ficar bem desperto e levanta-se, talvez demasiado depressa, porque sente uma súbita tontura. Não é bom sinal. Estende as duas mãos para ela, sentindo-se imenso e instável ao agigantar-se sobre a sua figura minúscula.
- Vamos, mamã - diz suavemente. - Está na hora de me ir embora. Gostava que me acompanhasse à porta.
Com uma obediência infantil, pega-lhe nas mãos e ele ajuda-a a levantar-se da cadeira. Arruma o tabuleiro e põe-no à porta do quarto e depois lembra-se das saquetas de chá, meio escondidas debaixo da cama, e põe-nas também à porta. Teriam sido uma festa para ela. Leva-a pelo corredor, tentando sempre tranquilizá-la, pois sabe que está a entrar num mundo desconhecido. Ela não faz a menor ideia do lado para onde há-de virar quando sai do quarto. Não comenta o facto de todo aquele ambiente lhe ser desconhecido, mas agarra a mão dele com mais força. Na primeira sala estão duas mulheres, uma com o cabelo branco apanhado em tranças e a outra completamente careca a ver televisão sem som. Cyril, como sempre de gravata e casaco desportivo, está a aproximar-se do meio da sala, mas hoje anda com uma bengala e com um gorro com abas nas orelhas. É o único homem residente no lar, dócil e preso a uma fantasia bem definida: está convencido de que é dono de uma grande propriedade e tem de andar a visitar os rendeiros e ser muito educado para eles. Perowne nunca o viu infeliz.
Cyril levanta o boné quando vê Lily e diz-lhe:
- Bom dia, minha querida. Está tudo bem? Tem alguma queixa?
O rosto dela fecha-se e ela desvia o olhar. No ecrã por cima da cabeça dela, Perowne vê a manifestação, ainda em Hyde Park. Uma multidão enorme à frente de um palco provisório e, ao longe, uma figura minúscula a falar a um microfone, depois uma imagem aérea e a seguir os manifestantes a desfilarem com as suas faixas, ainda a entrarem nos portões do parque. Henry e Lily param para deixarem Cyril passar. Há uma imagem da apresentadora sentada atrás de uma secretária da era espacial, e depois o avião que ele viu às primeiras horas do dia, a fuselagem negra num lago de espuma, como um ornamento sem gosto num bolo coberto. A seguir, a esquadra da polícia de Paddington, que dizem estar segura contra qualquer ataque terrorista. No exterior está um repórter a falar para um microfone. Há um desenvolvimento qualquer. Os pilotos serão mesmo muçulmanos radicais? Perowne procura o comando para aumentar o som, mas de repente Lily fica agitada e tenta dizer-lhe qualquer coisa importante.
- Se ficar muito seco, torna a encaracolar. Eu disse-lhe mais de uma vez que tinha de o molhar, mas ele não o pousava.
- Não faz mal - diz-lhe Henry. - Ele vai pousá-lo. Vou dizer-lhe que o faça. Prometo.
Decide esquecer a televisão e deixam a sala. Henry tem de se concentrar na despedida, pois sabe que ela pensa que vai com ele. Vai ter de ficar à porta, a dar a habitual explicação sem sentido de que voltará em breve. Terá de ser Jenny ou uma das outras raparigas a distraí-la para ele poder sair.
Atravessam juntos a primeira sala. Estão a servir chá e sanduíches sem côdea às senhoras que estão sentadas junto da mesa redonda com a coberta de veludo. Ele despede-se delas, mas parecem demasiado distraídas para lhe responderem. Lily está mais satisfeita agora e inclina a cabeça para o braço dele. Quando chegam ao hall vêem Jenny Lavin junto à porta, já a levantar a mão para abrir a fechadura dupla e a sorrir-lhes. Nessa altura a mãe acaricia-lhe a mão com um toque leve como uma pena e diz-lhe:
- Aquilo ali fora parece um jardim, tia, mas é o campo, e podes andar lá o tempo que quiseres. Quando andamos lá sentimo-nos mais leves, como se estivéssemos acima do balcão.
Não consigo lavar os pratos todos sem uma escova, mas Deus há-de olhar por ti e dar-te uma boa sorte, porque é uma prova de natação. Hás-de acabar por conseguir passar de qualquer maneira.
É uma lenta viagem até ao centro de Londres - mais de uma hora para ir de Perivale até Westbourne Grove. O trânsito está compacto em direcção à cidade, para os prazeres de sábado à noite, no preciso momento em que a primeira vaga de autocarros vem a sair com os manifestantes. Durante o vagaroso trajecto até aos semáforos de Gypsy Corner abre a janela para apreciar a cena na sua plenitude - a paciência bovina necessária para um engarrafamento, o cheiro abrasivo dos escapes, o barulho ensurdecedor dos motores parados em seis faixas para este e oeste, a luz amarela dos candeeiros a colorir as carroçarias, o ruidoso batuque dos rádios, as luzes vermelhas dos stops a estenderem-se em direcção à cidade e as brancas a saírem dela. Tenta ver, ou sentir, em termos históricos aquele momento nas últimas décadas da era do petróleo, em que um instrumento criado no século xix atinge a perfeição máxima nos primeiros anos do século xxi; em que a riqueza, sem precedentes, das massas que interagem na impiedosa cidade moderna proporcionam uma visão que em nenhuma era anterior seria possível imaginar. Pessoas comuns! Rios de luz! Quer obrigar-se a ver aquilo como Newton veria, ou os seus contemporâneos Boyle, Hooke, Wren, Willis - homens inteligentes e curiosos do iluminismo inglês, que durante alguns anos tiveram nas suas mentes quase toda a ciência do mundo. De certeza que eram admirados. Mentalmente, mostra-lhes o que está a ver: foi isto que fizemos, isto é uma coisa vulgar do nosso tempo. Toda aquela iluminação seria assombrosa se pudesse vê-la com os olhos deles. Mas não consegue fazê-lo. Não consegue ver para além do peso férreo do presente, ver para além do tédio de um engarrafamento ou da demora para a qual também ele está a contribuir, nem das esperanças comerciais frustradas de uma fileira de lojas atrás das quais esteve parado durante quinze minutos. Não tem a veia lírica necessária para ver para além de tudo aquilo - é uma pessoa realista e nunca consegue fugir da realidade. Mas talvez dois poetas já sejam suficientes numa família.
Depois de Acton o trânsito fica mais fluido. Na penumbra do fim da tarde, uma única faixa vermelha no céu, quase rectangular, um emblema do mundo natural, de uma vastidão que existe algures longe da vista, desaparece lentamente, perseguindo-o pelo espelho retrovisor. Mesmo que as faixas do outro lado da estrada estivessem livres, está contente por não ir nessa direcção. Apetece-lhe ir para casa e recompor-se antes de começar a cozinhar. Tem de ver se há champanhe no frigorífico e levar algumas garrafas de vinho tinto para a cozinha para irem aquecendo. Também o queijo precisa de ser amaciado pelo ar morno do aquecimento central. Precisa de se deitar durante dez minutos. Não está com a menor disposição para ouvir os blues debitados pelo amplificador de Theo.
Contudo, a sua qualidade de pai é tão inelutável como o destino e por fim estaciona numa rua junto de Westbourne Grove, a algumas centenas de metros da antiga sala de espectáculos. Está quarenta e cinco minutos atrasado. Quando chega, o edifício está em silêncio, às escuras e com as portas fechadas, mas estas abrem-se facilmente quando as empurra e por isso tropeça ao entrar no foyer. Espera até que os olhos se adaptem à luz fraca e tenta ouvir qualquer som. Sente o cheiro familiar das alcatifas com pó. Terá chegado tarde de mais? Seria quase um alívio. Passa a sala de entrada e algo que julga ser a bilheteira, até que chega a outra porta dupla. Procura a barra metálica, empurra e entra.
Uns trinta metros à frente está o palco iluminado por uma suave luz azulada, interrompida por alfinetadas vermelhas nos amplificadores.
Junto à bateria, um projector lança um disco vermelho alongado pelo chão da sala, que não tem cadeiras. Não há mais nenhuma luz, a não ser o sinal cor-de-laranja a indicar a saída atrás do palco. Há pessoas a movimentarem-se e a baixarem-se junto dos instrumentos e junto do brilho débil das teclas. Sobre o zumbido indistinto dos altifalantes distingue-se um murmúrio de vozes. Há uma silhueta na parte da frente do palco a ajustar a altura de dois microfones.
Perowne desloca-se para a direita e, no meio de uma escuridão quase total, vai tacteando ao longo da parede até chegar junto do palco. Uma segunda pessoa aparece junto dos microfones com um saxofone, cujos contornos estão bem definidos contra o azul. Em resposta a uma voz, sai das teclas uma única nota, e uma viola baixo afina a corda mais alta com esse som. Uma outra guitarra toca um acorde aberto - todos no mesmo tom, e depois junta-se-lhes um terceiro instrumento. O baterista senta-se, aproxima mais os pratos e experimenta o pedal do bombo. O murmúrio das vozes cessa e os roadies saem pelos lados do palco. Theo e Chás estão na parte da frente do palco, junto dos microfones, a olhar para o auditório.
É só nessa altura que Perowne se apercebe de que o viram chegar e de que tinham estado à espera. A guitarra de Theo começa sozinha com um solo langoroso de dois compassos, uma linha descendente de uma quinta, caindo num acorde forte que flui para uma segunda e fica aí suspenso, uma sétima que acaba por se dissolver; depois irrompem fortes o gongo e cinco notas ascendentes do baixo, iniciando os blues. É uma canção do tipo Stormy Monday, mas os acordes são densos e mais próximos do jazz. As luzes do palco mudam para branco. Theo, imóvel no seu transe habitual, percorre por três vezes os doze compassos. É um som suave, torneado, cheio de feedback, para dar às notas o seu tom de lamento, seguido de curtos glissados. O piano e a guitarra ritmo lançam os seus envolventes acordes jazzísticos.
Henry sente o batimento do baixo no esterno e leva a mão ao sítio magoado. O volume do som está a aumentar e Henry está a sentir-se desconfortável, mas vai resistindo. No estado em que se encontra, preferia estar em casa com um trio de Mozart na aparelhagem e um copo de vinho branco gelado.
Mas não aguenta muito tempo. Há qualquer coisa que se agiganta ou se ilumina dentro dele quando as notas de Theo sobem e, no segundo andamento, atingem um registo mais alto, ficando a pairar no ar. É nisto que os rapazes têm estado a trabalhar e querem que ele ouça. Henry fica comovido. Está a apanhar a ideia, a energia da sua exuberância e perícia. Descobre, ao mesmo tempo, que a canção não segue o ritmo habitual de um blues de doze compassos. Há uma parte no meio com uma melodia etérea que sobe e desce em semitons. Chás inclina-se para o microfone para cantar com Theo, numa harmonia estranha e fechada.
Baby, you can choose despair, Or you can be happy if you dare. So let me take you there, My city square, city square.
Depois Chas, com os truques que trouxe de Nova Iorque ainda frescos, desvia-se, pega no saxofone e ataca numa nota alta e irregular, como uma voz que a alegria faz falhar, que se prolonga, prolonga, até cair numa espiral descendente, desenvolvendo a introdução de Theo e fazendo a banda regressar aos doze compassos. Do saxofone irrequieto saem ritmos entrecortados e notas que se prolongam quando o acorde muda e depois são libertadas em sequências selvagens. Theo e o viola baixo repetem em oitavas agressivas uma sequência que varia de formas inesperadas, sem nunca voltar ao mesmo ponto. É um blues rápido que origina um ritmo acelerado.
Na terceira volta de Chás vêm os dois ao microfone e ao refrão cadenciado em harmonias ligeiramente dissonantes. Estará Theo a homenagear o seu professor, Jack Bruce ou os Cream ?
So let me take you there, My city square, city square.
É então a vez das teclas, e os outros juntam-se ao seu riff difícil e circular.
Henry já não se sente cansado e afasta-se da parede a que tem estado encostado, dirigindo-se para o centro do escuro auditório, para junto do enorme equipamento de som. Deixa-se submergir por ele. Há momentos raros como aquele, em que os músicos a tocar em conjunto alcançam algo que nunca tinham descoberto nos ensaios ou nos espectáculos anteriores e que está para além da mera competência técnica ou da colaboração entre todos. Nesse momento, a sua expressão torna-se tão calma e graciosa como a amizade ou o amor. É nestas alturas que nos permitem vislumbrar aquilo que poderíamos ser, o melhor que há em nós, um mundo impossível no qual damos tudo o que temos aos outros sem perdermos nada de nós próprios. Lá fora, no mundo real, há planos pormenorizados, projectos visionários de reinos pacíficos, onde todos os conflitos estarão solucionados, toda a gente será feliz para sempre - miragens pelas quais há pessoas dispostas a morrer e a matar. O reino de Cristo na Terra, o paraíso dos trabalhadores, o estado islâmico ideal. Mas só na música, e só em raras ocasiões, é que o pano se levanta de facto sobre este sonho de comunidade, invocado em desespero, até desaparecer com as últimas notas.
Claro que nunca ninguém chega a acordo sobre quando de facto está a acontecer. Henry ouviu-o pela última vez no Wigmore Hall, uma comunidade utópica materializada por instantes num octeto de Schubert, quando os músicos com os instrumentos de sopro, com movimentos discretos do corpo, dobrando-se ou encolhendo-se, fizeram as suas notas deslizar sobre o palco em direcção às cordas, que as devolveram adocicadas. Ouviu-o também há muito tempo na escola de Daisy e Theo, quando uma orquestra da escola gemia tons dissonantes, com um coro formado por alunos e funcionários, tentando tocar uma peça de Purcell, e formou uma harmonia inocente e ditosa que unia crianças e adultos. E agora está também ali, um mundo coerente em que finalmente tudo se ajusta. Está na escuridão a balançar o corpo, olhando para o palco, com a mão direita no bolso a agarrar as chaves. Theo e Chás voltam ao centro do palco para cantarem o seu refrão sublime. Or you can be happy if you dare. Sabe o que a sua mãe estava a querer dizer. Pode andar o tempo que quiser, sente-se mais leve, como se estivesse acima do balcão. Não quer que a canção acabe.
Não se dá ao trabalho de ir estacionar o carro à garagem. Em vez disso, pára mesmo à frente da porta - àquela hora não é proibido parar em cima de uma linha amarela e está ansioso por se apanhar dentro de casa. Mas ainda gasta alguns segundos a ver os estragos na porta do carro - praticamente nulos. Quando desvia os olhos do carro repara que a casa está às escuras. Theo ainda deve estar no ensaio e Rosalind a afinar os últimos pormenores do processo que vai levar a tribunal. Alguns flocos de neve dispersos iluminados pela luz dos candeeiros da rua brilham intensamente contra o preto acetinado das janelas. O sogro e a filha devem estar a chegar, e Henry começa a sentir-se pressionado pelo tempo. No momento em que abre a porta está a tentar lembrar-se das palavras exactas de uma observação que Theo lhe fez há algumas horas e a que na altura não ligou, mas que agora está a incomodá-lo. No entanto, esse esforço não muito intenso de se lembrar dissipa-se quando penetra no calor do átrio de entrada e acende as luzes; uma simples lâmpada basta para suprimir um pensamento. Vai directamente à garrafeira, de onde tira quatro garrafas. A sua sopa de peixe pede um vinho robusto - tinto, não branco. Foi Grammaticus que lhe deu a conhecer um Tautavel, o Cotes de Roussilon Villages, e Henry fez dele o vinho lá de casa - delicioso e por menos de cinquenta libras cada caixa. Abrir as garrafas algumas horas antes de o vinho ser servido é um raciocínio próprio de uma espécie de pensamento mágico; a superfície exposta ao ar é diminuta, não podendo certamente provocar uma diferença detectável. No entanto, Henry quer de facto as garrafas mais quentes e por isso leva-as para a cozinha e põe-nas junto do fogão.
No frigorífico já estão três garrafas de champanhe. Dá um passo em direcção ao leitor de CD, mas depois muda de ideias, porque sente a atracção, como da força da gravidade, do noticiário que irá para o ar na televisão daí a pouco. É uma característica dos tempos que correm, aquela compulsão de saber como vai o mundo e passar a fazer parte do que é geral, de uma espécie de comunidade da ansiedade. É um hábito que se tornou mais forte nos últimos dois anos; o valor das notícias atingiu uma nova escala devido a acontecimentos monstruosos e espectaculares. A possibilidade de eles se repetirem é um fio que tece os dias. O aviso do governo de que é inevitável um ataque contra uma cidade europeia ou americana não é apenas uma forma de descartar as responsabilidades - é uma promessa que causa vertigens. Toda a gente o teme, mas há também um desejo mais obscuro na mente colectiva, uma tentação repugnante de autopunição e uma curiosidade blasfema. Tal como os hospitais têm os seus planos de crise, também as televisões estão prontas a relatar os acontecimentos, e os espectadores à espera. Cada novo acontecimento terá uma dimensão maior e mais espectacular que o anterior. Por favor, não deixem que aconteça. Mas, se acontecer, quero ser o primeiro a saber e a ver e quero vê-lo de todos os ângulos. Ainda por cima, Henry precisa de saber qual é a situação dos pilotos.
A ideia das notícias traz sempre consigo, de uma forma inseparável, pelo menos aos fins-de-semana, a perspectiva de um copo de vinho tinto. Despeja o que resta de uma garrafa de Cotes du Rhône para um copo, liga a televisão, tira-lhe o som e começa a descascar e a picar três cebolas. Sem paciência para as cascas exteriores, finas como papel, faz força com o polegar e faz um golpe profundo que apanha quatro camadas, desperdiçando um terço da cebola. Pica rapidamente o resto e deita-o numa caçarola com muito azeite. O que mais lhe agrada no acto de cozinhar é a sua relativa imprecisão e a falta de disciplina - uma libertação das exigências do bloco operatório. Na cozinha, as consequências de uma falha são menores: desapontamento, um laivo de vergonha, raramente expressos. Ninguém morre. Descasca e pica oito dentes de alho grandes e junta-os às cebolas. Só costuma tirar umas ideias vagas das receitas. Os autores de livros de cozinha que mais admira são os que utilizam expressões como «um punhado», «um toque», «uma mão cheia» disto ou daquilo e os que indicam ingredientes alternativos e encorajam a experimentação. Henry acha que nunca vai ser um bom cozinheiro. Rosalind diz que ele é um bom garfo. Despeja várias malaguetas de um frasco para a palma da mão, esmaga-as e junta essa massa bem como as sementes às cebolas e aos alhos. Começa o noticiário na televisão, mas ele não aumenta o volume do aparelho. É a mesma imagem de helicóptero de antes de ter anoitecido, a mesma multidão a encher o parque, a mesma festa colectiva. Quando as cebolas e os alhos começam a alourar, junta-lhes um bocadinho de açafrão, algumas folhas de louro, raspa de casca de laranja, orégãos, cinco filetes de anchovas e duas latas de tomate pelado. A televisão transmite extractos de discursos de um conceituado político de esquerda, de uma estrela pop, de um dramaturgo e de um sindicalista no enorme palco montado em Hyde Park. Mete as três raias numa panela para fazer caldo. As cabeças estão intactas e os lábios cheios, com um toque feminino. Um graduado da polícia está a responder a perguntas sobre a manifestação. Pelo seu sorriso discreto e ligeira inclinação da cabeça, parece satisfeito com a forma como o dia correu.
Henry tira uns doze mexilhões do saco de rede verde e junta-os às raias. Se estiverem vivos e a sofrer, não quer saber. O mesmo jornalista de ar sério volta ao ecrã, mexendo a boca para dizer tudo o que há a saber sobre aquela multidão ali reunida, num número sem precedentes. O molho do tomate está a borbulhar juntamente com as cebolas e o resto dos ingredientes e a ganhar um tom vermelho-alaranjado por causa do açafrão.
Sem ter ainda recuperado completamente a audição por causa do ensaio e com os sentimentos ainda confusos, ou até embotados, pela visita à mãe, Perowne decide que tem de ouvir uma coisa enérgica, por exemplo Steve Earle, segundo Theo o mentor de Springsteen. Mas o disco que quer ouvir, El Corazon, está lá em cima e por isso primeiro bebe o vinho e continua a olhar para a televisão, à espera da sua história. O primeiro-ministro está a fazer o tal discurso em Glasgow. Perowne liga o som a tempo de o ouvir dizer que o número de pessoas que participaram na manifestação é inferior ao número de mortes causadas por Saddam. É um argumento inteligente, a única coisa que haveria a dizer, mas devia tê-lo dito desde o princípio. Agora é tarde de mais. Depois das afirmações de Blix, parece uma medida táctica. Henry desliga o som. Lembra-se de como está satisfeito por estar a cozinhar - nem a consciência dessa satisfação a diminui. Deita o resto dos mexilhões para um passador e esfrega-os com uma escova debaixo de água a correr. As amêijoas, com uma ligeira coloração verde, parecem frágeis e puras, e quase não as lava. A espinha de uma das raias ficou arqueada, como se ela quisesse fugir da água a ferver. Quando a empurra com uma espátula, a coluna vertebral parte-se, a seguir à T3. No Verão passado operou uma adolescente que tinha partido a coluna na C5 e na T2 ao cair de uma árvore num festival de música pop, onde se tinha empoleirado para tentar ver melhor os Radiohead. Tinha acabado o liceu e queria ir estudar russo em Leeds. Está num centro de reabilitação há seis meses e está melhor. Mesmo assim, Henry afasta essa recordação. Não quer pensar em trabalho, quer cozinhar. Tira do frigorífico uma garrafa de vinho branco, Sancerre, e deita um quarto de litro para o refogado.
Põe os rabos de peixe-anjo em cima de uma tábua de cozinha, corta-os em pedaços e põe-nos numa tigela branca grande. Depois tira o gelo do camarão tigre e mete-o também na tigela. Noutra tigela põe as amêijoas e os mexilhões. Põe as duas tigelas no frigorífico, tapadas com pratos. A televisão mostra agora o edifício das Nações Unidas em Nova Iorque e a seguir Colin Powell a entrar numa limusina preta. A história de Henry está a ser despromovida, mas ele não se importa. Limpa a cozinha, deitando todo o lixo espalhado sobre a bancada central para o caixote e lavando as tábuas com a água a correr. O passo seguinte é deitar o caldo onde as raias e os mexilhões têm estado a cozer para a caçarola. Depois de o fazer, calcula que tem mais ou menos dois litros e meio de caldo alaranjado, que deixa a cozer por mais cinco minutos. Voltará a aquecê-lo antes do jantar, deixando ferver as amêijoas, os mexilhões e os camarões durante dez minutos. Vão comer a sopa de peixe com fatias de pão escuro, salada e, a acompanhar, vinho tinto. Depois de Nova Iorque surge a fronteira do Kuweit com o Iraque e um comboio de camiões militares a deslocar-se por uma estrada no deserto, os soldados a pernoitarem junto dos tanques e depois na manhã seguinte a comerem salsichas em latas de rações de combate. Henry tira dois sacos de salada da última gaveta do frigorífico, despeja-a para um alguidar e lava-a. Um oficial, de certeza com menos de trinta anos, está junto à sua tenda a apontar com um ponteiro para um mapa aberto sobre um cavalete. Perowne não se sente tentado a ligar o som - aquelas notícias da frente de combate têm um tom jovial, censurado, que o deixa desanimado. Escorre a salada e deita-a para uma saladeira. Só porá o azeite, o limão, o sal e a pimenta mais tarde.
Para a sobremesa há queijo e fruta. Theo e Daisy podem pôr a mesa.
Acabou os preparativos no momento em que surge na televisão a notícia do avião em chamas - em quarto lugar. Com uma sensação confusa de que está prestes a aprender qualquer coisa sobre si mesmo, aumenta o volume e fica a olhar para o minúsculo ecrã enquanto limpa as mãos a uma toalha. O facto de vir em quarto lugar pode indicar que não há novos desenvolvimentos ou um silêncio sinistro por parte das autoridades; mas a verdade é que a história vai ficar por ali - na introdução quase se percebe um tom de lamento na voz do apresentador. Lá estão o piloto, o tipo magro com o cabelo preto puxado para trás, e o co-piloto rechonchudo à porta de um hotel perto de Heathrow. O piloto explica, com a ajuda de um intérprete, que não são chechenos nem argelinos, nem muçulmanos; são cristãos, mas só de nome, porque nunca vão à igreja, nem têm nenhum Corão nem nenhuma Bíblia. Acima de tudo, são russos e têm muito orgulho nisso. Não têm nada a ver com a pornografia com crianças americanas encontrada, meio destruída, entre a carga queimada. Trabalham para uma empresa respeitável com sede na Holanda e as suas únicas responsabilidades são para com o avião que pilotavam. E, pois claro, a pornografia infantil é uma coisa abominável, mas não lhes compete inspeccionar toda a carga que vem na listagem que lhes é fornecida. Foram libertados sem qualquer acusação e, assim que as autoridades responsáveis pela aviação civil lhes derem autorização, tencionam voltar para Riga. Também foi posto um ponto final na controvérsia sobre a rota do avião em direcção ao aeroporto; foram observados os procedimentos adequados. Os dois homens insistem que foram bem tratados pela Polícia Metropolitana. O co-piloto diz que lhe apetece tomar banho e beber um copo. São boas notícias, mas ao sair da cozinha em direcção à despensa Henry não se sente particularmente satisfeito, nem sequer aliviado. Será que as suas ansiedades o levaram a fazer figura de tolo? Esta limitação da liberdade mental, do direito a divagar, faz parte da nova ordem das coisas. Há não muito tempo, os seus pensamentos vagueavam de uma forma mais imprevisível por um vasto leque de temas. Desconfia que está a tornar-se um joguete, um consumidor espontâneo e febril de notícias, opiniões, especulações e de todas as partículas de informação que as autoridades deixam escapar. É um cidadão dócil, que está a ver o Leviatã agigantar-se e se esconde sob a sua sombra para se proteger. Aquele avião russo caiu precisamente dentro da sua insónia, e ele deixou que a notícia e todas as alterações nervosas que ela foi tendo ao longo do dia afectassem o seu estado emocional. É uma ilusão acreditar que ele próprio tem um papel activo na história. Será que pensa que está a fazer algum contributo quando está a ver noticiários ou deitado de costas no sofá aos domingos à tarde a ler mais colunas de opinião cheias de certezas não fundamentadas, ou longos artigos sobre o que está realmente por detrás disto ou daquilo, ou sobre o que irá certamente acontecer a seguir, previsões esquecidas assim que acabam de ser lidas, muito antes de os acontecimentos as negarem? Contra ou a favor da guerra contra o terrorismo ou da guerra do Iraque, a favor da deposição de um tirano odioso e da sua família criminosa, a favor de mais uma inspecção às armas, da abertura das prisões onde os presos são torturados, da localização das valas comuns, da esperança de liberdade e prosperidade e do aviso a outros déspotas ou contra o bombardeamento de alvos civis, o aparecimento inevitável de refugiados e da fome, as acções internacionais ilegais, a ira dos países árabes e o engrossar das fileiras da Al-Qaeda. Seja como for, tudo vai dar a uma espécie de consenso, uma ortodoxia atenta, uma certa subjugação. Será que pensa que a sua ambivalência - se é disso que se trata - o desculpa do conformismo geral? Sente-se mais envolvido pela situação do que a maioria das pessoas. Os seus nervos, como cordas retesadas, vibram obedientemente sempre que há uma nova «actualização» da informação. Perdeu os hábitos inerentes ao cepticismo, está a tornar-se sombrio por causa das opiniões contraditórias, não está a pensar com clareza, e quase tão grave como isso é o facto de achar que não está a pensar com independência.
A imagem seguinte mostra os pilotos a entrarem para o hotel, e será essa a última vez que os vê. Vai à despensa buscar algumas garrafas de água tónica, vê se há cubos de gelo e se o gim chega - sete decilitros e meio chegam de certeza para um homem - e acende o lume do caldo. No andar de cima, o rés-do-chão, corre os cortinados da sala em L, acende a luz e liga o gás nos aquecedores a imitar lenha a arder. Aqueles cortinados pesados, que se fecham puxando um cordão esticado por uma pesada bola de latão, têm a particularidade de eliminar completamente a praça e o mundo ventoso que está para lá dela. A sala, com o tecto alto e decorada em tons de creme e castanho, está em silêncio e tem um efeito tranquilizador. A única cor viva que nela existe é o azul e o vermelho das carpetes e uma mancha abstracta cor-de-laranja e amarela sobre um fundo verde num quadro de Howard Hodgkin pendurado numa das saliências da lareira. As três pessoas que há no mundo que ele, Henry Perowne, mais ama e que mais o amam estão prestes a chegar a casa. Então que se passa com ele? Nada, rigorosamente nada. Está bom, e tudo está bem. Pára ao fundo das escadas, a tentar lembrar-se do que ia fazer a seguir. Vai ao seu escritório no primeiro andar e fica parado a olhar para o ecrã do seu monitor para recordar o que a próxima semana lhe trará. Na lista de segunda-feira há quatro nomes, cinco na de terça. Viola, a astrónoma idosa, será a primeira, às oito e meia. Jay tem razão, é possível que ela não se safe. Todos os nomes evocam uma história que ele ficou a conhecer bem ao longo das últimas semanas ou meses.
Sabe exactamente o que tenciona fazer em cada um dos casos, e a perspectiva do trabalho dá-lhe prazer, exactamente ao contrário do que estarão a sentir as nove pessoas, algumas já internadas, outras em casa, outras em viagem para Londres no dia seguinte ou na segunda-feira, angustiadas pelo momento que se aproxima, pelo esquecimento em que a anestesia as fará mergulhar e pela sua suspeita, perfeitamente razoável, de que depois de acordarem nunca mais voltarão a ser como eram.
Ouve a fechadura da porta da frente a rodar no andar de baixo e pelo som da porta a abrir-se e a fechar-se - um estilo parcimonioso de entrar num lugar e de fechar cuidadosamente a porta atrás de si - sabe que é Daisy. Que sorte ela chegar antes do avô. Corre escada abaixo em direcção a ela, e ela faz uma espécie de pequena dança de alegria.
- Estás cá!
Abraçam-se e Henry suspira levemente, com um som rouco, como costumava fazer para a cumprimentar quando ela era pequenina. E é esse corpo de criança que sente quando quase a levanta no ar, a macieza dos músculos por baixo da roupa, a flexibilidade das suas articulações, os seus beijos assexuados. Até o hálito dela faz lembrar o de uma criança. Não fuma, quase nunca bebe e está prestes a ter um livro de poesia publicado. O seu hálito, pelo contrário, tem um cheiro intenso a vinho tinto. É pai de dois filhos maravilhosos e abstémios.
- Deixa-me olhar bem para ti.
Nunca esteve longe da família tanto tempo como aqueles seis meses. Os Perowne, embora bastante permissivos, são também pais possessivos. Quem lhe dera que no amplo abraço que lhe dá ela não note o brilho dos seus olhos e o nó na garganta. O seu momento de pathos sobe e desce numa única vaga suave que depressa se desfaz. Está apenas a ensaiar para ser um velho pateta; é um mero principiante. Apesar das suas fantasias, ela já não é uma criança. É uma jovem adulta independente, que olha para ele
com a cabeça inclinada - é tal e qual a avó quando faz aquele olhar -, com um sorriso nos lábios que se mantêm unidos, com a inteligência espelhada no rosto como uma espécie de calor. Há um sentimento misto de prazer e dor em ter filhos que se tornaram adultos há pouco tempo; são inocentes e impiedosos na forma como esquecem a sua antiga e doce dependência. Mas talvez ela esteja a lembrá-lo disso, pois durante o seu abraço fez aquele seu gesto maternal de o acariciar e ao mesmo tempo dar umas palmadinhas nas costas. Mesmo quando tinha cinco anos já gostava de o tratar como se fosse mãe dele e de ralhar com ele quando trabalhava até tarde, quando bebia vinho ou quando não ganhava a maratona de Londres. Era uma daquelas meninas mandonas, de dedo espetado. O pai pertencia-lhe. Agora acaricia e dá palmadinhas nas costas de outros homens, pelo menos seis no ano passado, se My Saucy Bark e as suas «Six Short Songs» lhe servirem de guia. É a existência estimulante desses homens que o ajuda a controlar a sua lágrima - apenas uma.
Daisy traz um trenchcoat de cabedal verde-escuro desapertado. Na sua mão direita balança um chapéu russo de pele. Por baixo do casaco, umas botas de cabedal cinzentas até ao joelho, uma saia de lã cinzento-escura, uma camisola grossa e larga e uma écharpe de seda cinzenta e branca. O chique parisiense não se estende à sua bagagem- junto dos seus pés está a sua velha mochila de estudante. Henry continua a agarrá-la pelos ombros, como a tentar pôr no lugar o que mudou naqueles seis meses. Um perfume não familiar, talvez um pouco mais gorda, um pouco mais de sensatez à volta dos olhos, o seu rosto delicado com uma expressão mais firme. Agora a maior parte da vida dela é um mistério para ele. Às vezes pergunta a si mesmo se Rosalind saberá coisas da sua filha que ele não sabe.
A intensa observação do pai faz que a pressão do sorriso dela aumente até se transformar numa gargalhada.
- Vá lá, doutor. Pode ser honesto comigo. Estou uma mulher feia e velha.
- Estás linda e crescida de mais para o meu gosto.
- Enquanto cá estiver, vou de certeza regredir. - Aponta para a sala e pergunta - O avô está cá?
- Ainda não.
Liberta-se, cruza os braços à volta dos ombros dele e dá-lhe um beijo no nariz. ,. - Adoro-te e estou muito feliz por estar cá.
- Também te adoro.
Há algo mais que mudou. Ela já não é apenas bonita, é linda, e os seus olhos parecem dizer-lhe que está também um pouco preocupada. Está apaixonada e não suporta a separação. Henry afasta esse pensamento. Seja o que for, é mais provável que conte primeiro a Rosalind.
Por alguns segundos entram num daqueles momentos mudos e vazios que se seguem a um reencontro entusiástico - há demasiadas coisas a dizer e é necessário um ligeiro restabelecimento, o regresso ao habitual. Daisy olha à sua volta enquanto despe o casaco. Esse movimento volta a libertar aquele perfume desconhecido. Uma prenda do seu amante. Terá de fazer um esforço mais forte para se libertar daquela terrível fixação. Ela terá necessariamente de amar outro homem para além dele. Seria mais fácil para ele se os seus poemas não fossem tão sensuais - não é só o sexo que eles glorificam, mas também a novidade inquieta, os quartos e camas habitados uma vez e abandonados ao nascer do dia, o caminho para casa pelas ruas parisienses molhadas, cuja limpeza eficiente pelas entidades responsáveis pela cidade propicia diversas metáforas. No seu poema sobre a lavandaria que ganhou o Newdigate estava presente a mesma purificação de um novo começo. Perowne conhece os velhos argumentos sobre duplos padrões, mas não há mulheres liberais que defendem agora o poder e o valor da reticência? Será apenas uma certa caturrice de pai que o faz desconfiar que uma rapariga que dorme com vários homens tem mais probabilidades de acabar com um homem que não preste, com um falhado? Ou será a sua própria singularidade neste campo, a sua falta de vigor para novas experiências que está a originar outro problema de referência?
- Meu Deus, já não me lembrava de como esta casa é grande.
Daisy está a espreitar por entre o corrimão para o lustre pendurado lá longe, no tecto do segundo andar. Sem pensar, Henry pega no casaco dela, ri-se e volta a dar-lho.
- Que estou eu a fazer? - exclama - Tu moras cá. Podes ser tu a pendurá-lo.
Segue-o até à cozinha e, quando ele se volta para lhe oferecer uma bebida, ela torna a abraçá-lo e depois afasta-se com um pequeno salto encenado e entra na casa de jantar e depois vai até à estufa.
- Adoro estar aqui - grita em direcção a ele. - Olha para esta árvore tropical. Adoro-a. Onde é que eu tinha a cabeça para estar fora tanto tempo?
- É exactamente essa a minha dúvida.
A árvore está ali há nove anos. Henry nunca a viu com aquele estado de espírito. Está de novo a dirigir-se para ele, de braços estendidos como se estivesse a fazer equilíbrio no arame, fingindo que hesita - o tipo de coisa que uma personagem de uma série americana faria se tivesse uma notícia importante para dar. A seguir vai fazer piruetas à volta dele e trautear canções famosas. Henry tira dois copos de um armário e uma garrafa de champanhe do frigorífico e roda a rolha.
- Toma - diz. - Não há razão para esperarmos pelos outros.
- Adoro-te - repete Daisy, erguendo o copo.
- Bem-vinda a casa, minha querida.
Ela bebe e ele repara com algum alívio que não o faz avidamente. É apenas um pequeno golo - quanto a isso, tudo na mesma. Continua a observá-la, tentando perceber o que mudou.
Não consegue estar parada. Anda de copo na mão à volta da bancada central.
- Adivinha onde fui quando vinha da estação - diz-lhe Daisy, regressando para junto dele.
- Hum. A Hyde Park?
- Tu sabias! Porque é que não foste lá? Foi simplesmente espantoso.
- Não sei. Fui jogar squash, visitar a avó, estive a fazer o jantar, não tinha a certeza. Foi isso tudo.
- Mas é bárbaro o que se preparam para fazer. Toda a gente sabe isso.
- Talvez. Mas não fazer nada também pode ser. Honestamente não sei. Conta-me como é que foi no parque.
- Tenho a certeza que se tivesses lá estado não terias dúvidas nenhumas.
- Vi a manifestação a arrancar hoje de manhã - diz Henry, querendo mostrar-se solícito. - Estava toda a gente muito bem disposta.
Ela faz uma careta, como se estivesse com uma dor. Está finalmente em casa, estão a tomar o seu champanhe, e não suporta que ele não veja as coisas ao modo dela. Pousa a mão sobre o braço dele. Ao contrário da do pai ou da do irmão, é uma mão delicada, com dedos esguios, cada um com um resquício de uma covinha infantil na base. Enquanto ela está a falar, Henry olha para as suas unhas e fica satisfeito pelo bom estado em que se encontram. Longas, macias, limpas, brilhantes, não pintadas. As unhas de uma pessoa dizem muito sobre ela. Quando uma vida começa a correr mal, são das primeiras coisas a ruir. Pega-lhe na mão e aperta-a.
Ela fala com ele num tom de súplica. A sua cabeça está tão cheia como a dele em relação àquele assunto. O discurso que faz é uma mistura de tudo o que ouviu no parque, de tudo o que ambos ouviram e leram centenas de vezes, das piores hipóteses que se imaginaram que se tornaram factos à força de serem repetidas, do doce arrebatamento do pessimismo.
Henry ouve mais uma vez as previsões das Nações Unidas - quinhentos mil iraquianos mortos por causa da fome e dos bombardeamentos, três milhões de refugiados -, o fim das Nações Unidas, o colapso da ordem mundial se a América avançar sozinha, a cidade de Bagdade inteiramente destruída ao ser ocupada rua a rua pela Guarda Republicana, os Turcos a invadirem o país pelo Norte, os Iranianos pelo Leste, os Israelitas a fazerem incursões a oeste, toda a região em chamas, Saddam acossado no seu reduto a lançar as suas armas químicas e biológicas - se é que as tem, porque ainda ninguém o provou de forma convincente, tal como não se provaram as suas ligações à Al-Qaeda, além de que, quando os Americanos invadirem o país, a sua preocupação não será a democracia, não vão querer gastar um tostão com o Iraque, mas apenas tirar de lá o petróleo, construir bases militares e dirigir o país como uma colónia sua.
Enquanto Daisy fala, Henry olha para ela com ternura e alguma surpresa. Estão prestes a ter uma das suas discussões - tão cedo. Ela não costuma falar de política, não é um dos seus temas preferidos. Será esta a origem da sua agitação e felicidade? As cores vão-lhe subindo ao rosto desde o pescoço, e cada uma das razões que apresenta contra a guerra tem mais peso do que a anterior e aproxima-a mais do triunfo. As consequências negras que acredita que surgirão estão a deixá-la eufórica; cada vez que fala parece querer desferir um golpe num dragão. Quando acaba de falar dá-lhe um pequeno empurrão afectuoso no braço, como para o acordar. Depois compõe uma expressão de falso arrependimento. Está ansiosa por que ele veja a verdade.
Consciente de que está a assumir uma posição e preparando-se para o combate, Henry diz:
- Mas isso são tudo especulações em relação ao futuro. Porque hei-de ter alguma certeza em relação a isso? E se for uma guerra rápida, se as Nações Unidas não se desintegrarem, se não houver fome, nem refugiados, nem invasões por
parte dos países vizinhos, se Bagdade não ficar arrasada e se houver menos mortes do que as que em média Saddam inflige ao seu povo todos os anos? E se os Americanos tentarem organizar uma democracia, se investirem milhões de dólares e se vierem embora porque o presidente quer ser reeleito no próximo ano? Acho que continuarias a ser contra a guerra e ainda não me disseste porquê.
Ela afasta-se dele e olha-o com uma expressão de ansiedade e surpresa.
- Papá, não és a favor da guerra, pois não? Henry encolhe os ombros.
- Nenhuma pessoa racional é a favor da guerra. Mas é possível que daqui a cinco anos não nos arrependamos dela. Adorava ver Saddam ser deposto. Tens razão, pode ser um desastre. Mas também pode ser o fim de um desastre e o princípio de algo melhor. Tem tudo a ver com as consequências, e ainda ninguém sabe quais serão. É por isso que não me imagino a desfilar pelas ruas.
A surpresa dela transformou-se em desagrado. Ele levanta a garrafa e prepara-se para lhe encher o copo, mas ela abana a cabeça, pousa o copo e afasta-se mais do pai. Não bebe com o inimigo.
- Odeias o Saddam, mas ele é uma criação dos Americanos. Apoiaram-no e armaram-no.
- Pois foi. Os Americanos, os Franceses, os Russos e os Ingleses. Foi um grande erro. Os Iraquianos foram traídos, sobretudo em 1991, quando foram encorajados a sublevar-se contra os membros do partido Baas, que os aniquilaram. Esta guerra pode ser uma oportunidade de corrigir essa situação.
- Então és a favor da guerra?
- Já disse que nunca sou a favor da guerra. Mas esta pode ser um mal menor. Daqui a cinco anos saberemos.
- Essa posição é tão típica...
- De quê? - pergunta, com um sorriso contrafeito.
- Tão típica em ti.
Não é propriamente o reencontro que tinha imaginado e, como por vezes acontece, a sua discussão está a tornar-se pessoal. Já não está habituado a elas, perdeu o jeito. Sente um aperto no coração. Ou será a ferida no esterno? Já vai quase no fim da segunda taça de champanhe e ela quase não tocou na primeira. O seu impulso para dançar desapareceu. Encosta-se à ombreira da porta, de braços cruzados, com a sua pequena cara de duende contraída de raiva. Reage quando o vê erguer as sobrancelhas.
- Estás a dizer que devemos deixar a guerra acontecer e, daqui a cinco anos, se resultar, tu és a favor e, se não correr bem, não és responsável por isso. És uma pessoa culta que vive naquilo a que gostamos de chamar uma democracia adulta, e o nosso governo está a empurrar-nos para a guerra. Se achas que é boa ideia, tudo bem, diz isso, apresenta os teus argumentos e não adies a tua posição. Os soldados já começaram a partir ou ainda não? É agora que está a acontecer. Tentar adivinhar o futuro é aquilo que se faz muitas vezes quando se tem de fazer uma escolha moral. Chama-se pensar nas consequências. Sou contra a guerra porque acho que vão acontecer coisas terríveis. Tu achas que vai ter resultados bons, mas não defendes aquilo em que acreditas.
Ele pensa e acaba por dizer:
- É verdade. Acho sinceramente que pode correr mal. Esta admissão, e o tom pouco convicto em que é feita,
deixam-na ainda mais furiosa.
- Então porquê arriscar? Que é feito das precauções que aconselhas sempre? Se queres mandar centenas de milhares de soldados para o Médio Oriente, é melhor saberes o que eles vão lá fazer. E aqueles loucos gananciosos que ocupam a Casa Branca não sabem o que estão a fazer, não fazem a mínima ideia de para onde querem levar-nos, e não consigo acreditar que estejas do lado deles.
Perowne pensa se não estarão a falar de coisas diferentes. Aquele «tão típico» dela continua a incomodá-lo.
Talvez os meses que passou em Paris lhe tenham dado tempo para descobrir novas perspectivas sobre o pai das quais não goste. Afasta esse pensamento. É bom, é saudável terem uma das suas velhas discussões, e retomar a vida familiar. E o que se passa no mundo é importante. Senta-se num dos bancos encostados à bancada central e faz sinal a Daisy de que faça o mesmo. Ela ignora-o e mantém-se junto da porta, de braços ainda cruzados e rosto fechado. O facto de ele estar cada vez mais calmo enquanto ela fica cada vez mais agitada também não ajuda nada, mas é um hábito dele, que a sua profissão tem tornado cada vez mais firme.
- Olha, Daisy, se eu mandasse, esses soldados não estariam na fronteira do Iraque. Não é a melhor altura para o Ocidente entrar em guerra com um país árabe. Além disso, não há qualquer plano à vista para a questão palestiniana. Mas a guerra vai acontecer, com ou sem as Nações Unidas, independentemente do que os governos disserem ou das manifestações que se fizerem. A invasão vai-se dar, e as forças militares vão triunfar de certeza absoluta. Será o fim de Saddam e de um dos regimes mais odiosos que alguma vez existiram, e eu ficarei contente com isso.
- Ou seja, os Iraquianos têm de levar com o Saddam e agora com os mísseis americanos, mas está tudo bem, porque tu vais ficar contente.
Henry não reconhece aquela amargura retórica, nem a aspereza da sua garganta.
- Espera aí - diz, mas ela não o ouve.
- Achas que vamos ficar mais seguros depois disto tudo? Vamos ser odiados por todo o mundo árabe. Todos aqueles jovens sem nada para fazer vão fazer bicha para serem terroristas...
- É demasiado tarde para nos preocuparmos com isso - interrompe-a. - Cem mil já passaram pelos campos de treino afegãos. Pelo menos deves estar satisfeita por isso ter acabado.
Depois de dizer isto lembra-se de que, de facto, Daisy ficou satisfeita, que odiava os tristes talibãs, e pergunta a si próprio porque está a interrompê-la, a discutir com ela, em vez de tentar descobrir e perceber a posição dela de uma forma afectuosa. Porquê pôr-se na pele do adversário? Porque ele próprio está muito confuso, se sente enraivecido, apesar do tom calmo com que tem falado. O medo e a raiva estão a dominar os seus pensamentos e a fomentar o desejo de ter uma discussão. Vamos lá deitar tudo cá para fora! Estão a discutir sobre exércitos que jamais verão e sobre os quais nada sabem.
- Vai haver mais ataques - diz Daisy. - E quando houver a primeira explosão em Londres as tuas opiniões a favor da guerra...
- Se dizes que a minha posição é a favor da guerra, tens de aceitar que a tua é de facto a favor de Saddam.
- Que merda de conclusão!
Ao ouvir aquela linguagem, Henry sente uma súbita tensão, em parte por a sua conversa estar a ficar fora de controlo, mas também por uma alegria imprudente, por poder libertar-se da melancolia que o tem afectado ao longo de todo o dia. O rosto de Daisy perde a cor e as poucas sardas que tem nas maçãs do rosto ganham uma súbita visibilidade sob as luzes discretas da cozinha. O seu rosto, que normalmente mantém uma ligeira expressão de troça durante as conversas, está hoje a confrontá-lo com um olhar feroz e ultrajado.
Apesar desse sobressalto, Henry mostra-se calmo ao beber mais um pouco de champanhe e ao acrescentar:
- O que eu queria dizer era isto: para afastar Saddam é preciso avançar para a guerra; não avançar para a guerra significa deixá-lo continuar onde está.
Era sua intenção que esta frase fosse de conciliação, mas não foi assim que Daisy a entendeu.
- É feio e cruel as pessoas que são a favor da guerra dizerem que nós somos a favor de Saddam.
- Bem, vocês estão dispostos a fazer aquilo que ele mais gostaria que fizessem, que é deixá-lo no poder.
Mas isso só vai adiar o confronto. Um dia vai ser preciso acabar com ele e com os seus horríveis filhos. Até Clinton percebeu isso.
- Estás a dizer que vamos invadir o Iraque porque não temos alternativa. Estou espantada com as asneiras que estás a dizer, pai. Sabes perfeitamente que a América está nas mãos dos extremistas, dos neoconservadores. Cheney, Rumsfeld, Wolfovitz. O Iraque sempre foi um plano acalentado por eles. O onze de Setembro foi a sua grande oportunidade de darem a volta a Bush. Repara na política externa dele até essa altura. Era um ratinho imberbe que nunca saía de casa. Mas não há nada que ligue o Iraque ao onze de Setembro nem à Al-Qaeda em geral, nem a menor prova de que existam armas de destruição em massa. Não ouviste o que o Blix disse ontem? E nunca te passou pela cabeça que atacar o Iraque é fazer exactamente o que os que bombardearam Nova Iorque queriam que fizéssemos - reagir, fazer mais inimigos no mundo árabe e radicalizar o Islão. E não é só isso. Também estamos a fazer-lhes o favor de correr com o velho inimigo deles, o ímpio tirano estalinista.
- Por essa ordem de ideias, deviam querer que destruíssemos os campos de treino, e corrêssemos com os talibãs do Afeganistão, e obrigássemos o Bin Laden a fugir, e destruíssemos as suas redes financeiras, e metêssemos na prisão centenas de cabecilhas...
Ela interrompe, já a falar muito alto.
- Pára de distorcer as minhas palavras. Ninguém está contra perseguir a Al-Qaeda. Estamos a falar do Iraque. Porque será que as poucas pessoas que conheci que não são contra esta guerra nojenta têm todas bastante mais de quarenta anos? Devem ter algum problema com ser velhos. Se calhar não estão a aproximar-se da morte suficientemente depressa.
Henry sente uma súbita tristeza e um desejo de pôr fim àquela discussão. Preferia as coisas como estavam há dez minutos, quando ela disse que o adorava. Ainda não lhe mostrou as provas de My Saucy Bark nem a ilustração da capa. Mas não consegue obrigar-se a parar.
- A morte está sempre presente - concorda. - Pergunta aos carrascos a mando de Saddam que estão na prisão de Abu Ghraib e aos vinte mil prisioneiros. E deixa-me perguntar-te uma coisa. Porque será que entre aqueles dois milhões de idealistas que se juntaram hoje não vi uma única faixa, um punho ou uma voz a erguer-se contra Saddam.
- Ele é repugnante - diz Daisy. - Isso é um facto.
- Não, não é. É um facto, mas esquecido. Então porque é que estiveram todos a dançar e a cantar no parque? O genocídio e a tortura, as valas comuns, o aparelho de segurança, o estado totalitário criminoso... Disso a geração iPod não quer saber. Não querem que nada se interponha entre eles e as suas festas cheias de ecstasy, a sua alienação barata, os reality shows. Mas, se não fizermos nada, isso acabará por acontecer. Acham que são todos muito queridos, muito engraçados, muito inocentes, mas os nazis religiosos odeiam-vos. Qual é que achas que foi o objectivo da explosão em Bali? Foi lixar a festa. Os radicais islâmicos odeiam a vossa liberdade.
Ela finge ter sido apanhada de surpresa.
- Lamento muito que sejas tão sensível em relação à época em que vives, papá. Mas Bali foi obra da Al-Qaeda, e não de Saddam. Nada do que disseste até agora justifica que se invada o Iraque.
Perowne já vai quase no fim da terceira taça de champanhe. Um grande erro. Não está habituado a beber. Mas conseguiu ficar muito feliz por um método errado.
- Não é apenas o Iraque. Estou a falar da Síria, do Irão, da Arábia Saudita, uma grande extensão territorial de repressão, corrupção e miséria. Estás prestes a ter um livro publicado. Porque é que não te preocupas um pouco com a censura, com os teus congéneres que estão nas prisões árabes, precisamente no sítio onde a escrita foi inventada?
Ou será que a liberdade e a inexistência de tortura nas prisões devem ser um privilégio ocidental, que não devemos impor aos outros?
- Por amor de Deus, não venhas outra vez com essas tretas relativistas. E estás sempre a desviar-te da questão central. Ninguém quer que os escritores árabes vão para a prisão. Mas invadir o Iraque não vai tirá-los de lá.
- Talvez. Estamos perante uma oportunidade de mudar um país. De plantar uma semente. De ver se ela dá flor e se espalha.
- Não se plantam sementes com mísseis de cruzeiro. O povo vai odiar os invasores. Os extremistas religiosos vão ficar mais fortes. Vai haver menos liberdade e mais escritores na prisão.
- Aposto cinquenta libras em como, três meses depois da invasão, haverá liberdade de imprensa no Iraque e acesso livre à Internet. Os reformistas do Irão vão sentir-se encorajados e os potentados da Síria, da Arábia Saudita e da Líbia vão sentir-se ameaçados.
- Muito bem - diz Daisy. - E eu aposto cinquenta libras em como vai haver uma tremenda confusão e até tu vais desejar que nada daquilo tivesse acontecido.
Quando ela era adolescente fizeram várias apostas depois de discutirem e selaram-nas sempre com um aperto de mão pretensamente formal. Perowne descobria sempre uma maneira de pagar, mesmo quando ganhava - era um subsídio disfarçado. Quando, uma vez, um exame lhe correu mal, Daisy, na altura com dezassete anos, apostou vinte libras em como nunca conseguiria entrar para Oxford. Para a animar, ele apostou quinhentas libras e, quando receberam a informação de que ela tinha entrado, Daisy foi a Florença com uma amiga com o dinheiro da aposta. Será que ela agora está com disposição para apertos de mão?
Daisy afasta-se da porta, pega na taça de champanhe e vai até ao outro lado da cozinha. Mostra-se interessada nos CD de Theo que estão ao pé da aparelhagem.
Tem as costas firmemente voltadas contra o pai, que continua sentado no banco alto junto da bancada central, a brincar com o copo, mas já sem beber. Tem uma sensação de vazio, de ter discutido apenas metade do que tinha para discutir. Foi um santo com Jay e um malvado com a filha. Que sentido tem isso? E como é confortável resolver em casa, na cozinha, as questões geopolíticas e militares e não assumir a responsabilidade perante os eleitores, os jornais, os amigos e a história. Quando não há consequências, estar errado é apenas uma diversão interessante.
Ela tira um CD da caixa e põe-no no leitor. Henry fica à espera, sabendo que ele lhe dará uma pista relativamente ao estado de espírito dela, ou até uma mensagem. Quando ouve a introdução do piano, sorri. É um disco que Theo comprou há anos, de Johnnie Johnson, antigo pianista de Chuck Berry, a cantar Tanqueray, um blues lento que fala de reencontro e amizade.
It was a long time comin', But I knew I would see the day When you and I could sit down, And have a drink of Tanqueray.
Daisy volta-se e dirige-se para ele com pequenos passos de dança. Quando chega ao pé dele, ele pega-lhe na mão.
- Pelo cheiro, parece que o defensor da guerra fez uma das suas sopas de peixe. Queres ajuda?
- A jovem pacifista pode pôr a mesa. E, se quiseres, temperar a salada.
Quando se dirige para o armário da loiça ouvem dois toques muito longos e incertos da campainha. Olham um para o outro: aquela persistência não é nada promissora.
- Antes de fazeres isso, parte um limão. O gim está ali e a água tónica está no frigorífico - pede-lhe o pai.
Diverte-se com a forma teatral como ela faz girar os olhos e com o seu longo suspiro.
- Agora é que vai ser.
- Mantém a calma - é o conselho que ele lhe dá antes de subir a escada para ir abrir a porta ao sogro, o eminente poeta.
Pelo facto de ter crescido nos arredores de uma grande cidade, numa solidão aconchegada, partilhada com a mãe, Henry Perowne nunca sentiu falta de um pai. Nas casas em redor da sua, sobre as quais pesavam pesadas hipotecas, os pais eram sempre figuras distantes, esgotadas pelo trabalho e com pouco interesse. Para qualquer criança, a vida doméstica de Perivale em meados dos anos sessenta era dirigida unicamente pelas mães, todas elas donas de casa; quando ia a casa de um amigo ao fim-de-semana ou nas férias, era no domínio da mãe que entrava e era pelas regras dela que temporariamente era obrigado a reger-se. Eram elas que davam ou não davam autorização, ou que davam uns trocos aos filhos. Henry não tinha qualquer motivo para ter inveja dos amigos por terem pai - quando os pais não estavam ausentes, eram pessoas irascíveis, que impediam, em vez de permitirem o acesso aos elementos melhores e mais arriscados da vida. Durante a adolescência, quando examinava as poucas fotografias que existiam do seu pai, fazia-o menos por desejo que por narcisismo - esperava descobrir naquelas feições fortes, livres de acne, uma promessa para as suas hipóteses futuras com as raparigas. Queria o rosto, mas não queria os conselhos, as recusas, nem as opiniões. Talvez fosse inevitável que considerasse um sogro uma imposição, mesmo que lhe calhasse um menos imponente que John Grammaticus.
Desde o seu primeiro encontro, em 1982, quando chegou ao castelo poucas horas depois de ter consumado o seu amor por Rosalind no andar de baixo de um beliche do ferry para Bilbau, que Perowne nunca quis ser tratado com condescendência nem como um futuro filho.
Era um adulto com competências que não ficavam atrás das de um poeta. Rosalind dera-lhe a conhecer «Monte Fuji», o poema de Grammaticus incluído em muitas antologias, mas Henry não lia poesia e disse-o sem qualquer laivo de vergonha durante o jantar da primeira noite. Nessa altura John já tinha escrito uma boa parte do seu «Sem Exéquias»
- durante aquele que acabaria por ser o seu último período longo de criatividade - e não ficou nada intrigado por um médico ainda novo não ler nos seus tempos livres. Aparentemente, também não se importou, nem sequer reparou, mais tarde, quando o uísque já estava na mesa, que esse mesmo médico discordava dele em matéria de política - Grammaticus fora sempre um admirador de Mrs. Thatcher -, de música - o bebop tinha traído o jazz -, ou quanto à verdadeira natureza dos franceses - todos uns mercenários.
Na manhã seguinte, Rosalind disse-lhe que se tinha esforçado demasiado por chamar a atenção do seu pai, exactamente o contrário do que ele quisera fazer, o que o deixou muito irritado. Mas, apesar de ter deixado de discutir com ele, nada mudara muito entre eles desde essa primeira noite, nem mesmo depois do casamento, depois do nascimento dos filhos, nem de terem passado mais de duas décadas. Perowne mantém as distâncias e Grammaticus parece dar-se bem com isso e só tem olhos para a filha e para os netos, ignorando o genro. São superficialmente simpáticos, mas no fundo não têm paciência um para o outro. Perowne não percebe como é que a poesia
- ao que parece, um trabalho ocasional, como a vindima - pode ocupar uma vida inteira de trabalho, nem como é que tanta fama e amor-próprio podem assentar em tão pouca coisa, nem porque se há-de pensar que um poeta bêbedo é diferente de qualquer outro bêbedo; ao passo que Grammaticus - segundo Perowne imagina - deve achá-lo mais um comerciante, um médico chato e inculto, ainda por cima pertencente a uma classe em que ele cada vez acredita menos à medida que a idade o vai tornando cada vez mais dependente dela.
Há uma outra questão que naturalmente nunca é discutida. A casa da praça, tal como o castelo, foram deixados à mãe de Rosalind, Marianne, pelos seus pais. Quando ela casou com Grammaticus, a casa de Londres passou a ser a casa de família, onde Rosalind e o irmão cresceram. Quando Marianne morreu no desastre de viação, o seu testamento era claro: a casa de Londres era para os filhos e a de St. Felix para John. Quatro anos depois de se casarem, Rosalind e Henry, que moravam num pequeno apartamento em Archway, pediram um empréstimo para comprarem a parte do irmão de Rosalind, que queria comprar um apartamento em Nova Iorque. O dia em que os Perowne se mudaram com os seus dois filhos, ainda pequenos, para aquela casa tão grande, foi de grande alegria. Todas aquelas transacções foram feitas de bom grado. Mas, nas suas visitas a Londres, Grammaticus tende a agir como se regressasse a casa, como se fosse um proprietário ausente que vem cumprimentar os inquilinos e reafirmar os seus direitos. Talvez seja Henry que é muito sensível e não tem disponibilidade para uma figura paterna. Seja como for, a verdade é que fica aborrecido; já que tem de ver o sogro, prefere que seja em França.
Ao dirigir-se para a porta da frente, Perowne lembra-se, contra aquilo a que o champanhe o incita, de que deve disfarçar os seus sentimentos; o objectivo daquela noite é reconciliar Daisy com o avô, três anos depois daquilo a que Theo chamou o «percalço de Newdigate», em honra a vários autores de livros policiais. Daisy vai querer mostrar-lhe as provas, e o avô vai, com toda a legitimidade, reclamar o seu papel no sucesso dela. Abre a porta com este pensamento benigno e dá com Grammaticus a vários metros de distância, no meio da rua, com um longo casaco de lã com um cinto, chapéu e bengala,
a cabeça inclinada para trás e o rosto de perfil iluminado pela luz fria e branca dos candeeiros da praça. O mais provável é que esteja a fazer uma pose para Daisy.
- Ah, Henry - o desapontamento está na inflexão descendente da voz -, estava a olhar para a torre...
Grammaticus mantém-se na mesma posição e por isso Perowne desce os degraus e vai ter com ele.
- Estava a tentar vê-la - continua - pelos olhos de Robert Adam, quando delineava a praça, e a perguntar a mim próprio o que pensaria ele dela. Que lhe parece?
A torre ergue-se acima dos plátanos no jardim central, por detrás da fachada reconstruída do lado sul. Sobre uma base de vidro há seis varandas circulares que suportam três discos gigantes e, por cima deles, um conjunto de três rodas ou mangas onde está instalada a geometria de luzes fluorescentes. À noite, o Mercúrio a dançar dá-lhe um toque gracioso. Quando era pequeno, Theo costumava perguntar se a torre chocaria com a casa se caísse e ficava sempre muito satisfeito quando o pai lhe dizia que sim. Como Perowne e Grammaticus ainda não se saudaram nem deram um simples aperto de mão, a sua conversa está desenraizada, como uma troca de opiniões numa chat-room.
Perowne, o amável anfitrião, entra no jogo.
- Devia ter uma opinião de engenheiro. Teria ficado espantado com todo aquele vidro, com aquela altura com uma base tão pequena. E também com a luz eléctrica. Tê-la-ia visto mais como uma máquina do que como uma construção.
Grammaticus indica que essa não é nem de longe a resposta.
- A verdade é que a única analogia que lhe poderia ter ocorrido em finais do século XVIII teria sido com um pináculo de uma catedral. Teria necessariamente de a ver como um qualquer tipo de construção religiosa. Senão, porque seria tão alta? Concluiria necessariamente que aqueles pratos eram ornamentais ou utilizados em rituais. Uma religião do futuro.
- Em qualquer dos casos, não estaria muito longe da verdade.
Grammaticus levanta a voz para a sobrepor à dele.
- Por amor de Deus, homem. Veja as proporções daqueles pilares, a escultura daqueles capitéis! - Acena com a bengala na direcção da fachada do lado leste da praça. - Há ali beleza, há ali conhecimento. Um mundo diferente. Uma consciência diferente. Adam teria ficado surpreendido com a fealdade daquela coisa. Não tem escala humana. É pesada de mais. Não tem graça, não tem calor. Teria enchido o coração dele de medo. Se é aquilo que vai ser a nossa religião, teria ele dito para si próprio, estamos completamente lixados.
A visão que têm dos pilares georgianos da fachada oriental inclui, mais à frente, duas pessoas sentadas num banco a uns trinta metros deles, com blusões de cabedal e gorros de lã. Estão de costas voltadas para eles e sentadas ao pé uma da outra, dobradas para a frente, o que leva Perowne a crer que está em curso uma transacção. Se não, porque estariam ali sentados numa noite tão fria de Fevereiro? É tomado por uma súbita impaciência; antes de Grammaticus começar a amaldiçoar a civilização que ambos partilham, ou a exultar com qualquer outra fora do alcance deles, diz-lhe:
- A Daisy está à sua espera. Está a preparar-lhe uma bebida forte. - Agarra o sogro pelo cotovelo e empurra-o suavemente em direcção à porta da frente, ampla e profusamente iluminada. John vai bem lançado na sua fase expansiva e relativamente benigna, que Daisy não deve perder. Nas fases posteriores, a reconciliação não será possível.
Pega no casaco, no chapéu e na bengala do sogro, acompanha-o até à sala de estar e vai chamar Daisy, que já vem a subir com um tabuleiro, com uma nova garrafa de champanhe e a antiga, o gim, o gelo, o limão, copos, também para Rosalind e Theo, e nozes na tigela pintada que trouxe de uma viagem ao Chile quando ainda andava a estudar. Lança-lhe um olhar de interrogação e ele faz uma cara alegre: vai correr tudo bem. Prevendo que ela e o avô queiram abraçar-se, pega no tabuleiro e entra na sala a seguir a ela. Mas Grammaticus, que está de pé no meio da sala, afasta-se com alguma formalidade, e Daisy retrai-se. Pode estar surpreendido com a beleza dela, tal como aconteceu a Henry, ou chocado com a sua familiaridade. Avançam um para o outro, murmurando ao mesmo tempo «Daisy...», «Avô...», dão um aperto de mão e depois, por força de um movimento dos seus corpos, que não conseguem reverter depois de se ter iniciado, dão um beijo acanhado na cara um do outro.
Henry pousa o tabuleiro e prepara um gim tónico.
- Aqui tem - diz. - Vamos fazer um brinde. À poesia.
Repara que a mão do sogro está a tremer quando agarra o copo. Erguendo os copos e murmurando ou resmungando sem repetirem as palavras que um simples endireita não tem o direito de proferir, Daisy e o avô bebem.
- É a cara da Marianne quando a conheci - diz-lhe Grammaticus.
Os seus olhos, repara Perowne, não estão húmidos, como os seus ficaram; apesar do arrebatamento e das variações de humor, há em Grammaticus algo de controlável e intocável, até uma certa dureza. Tem uma certa forma de flutuar, de se movimentar com grande pompa quando está com as pessoas, mesmo que lhe sejam muito próximas. Segundo Rosalind, foi já há muito tempo, por volta dos trinta anos, que desenvolveu aquela maneira de ser distante e soberba, de não se importar com o que as outras pessoas pensam.
- O avô está com um aspecto excelente - diz-lhe Daisy.
Grammaticus põe-lhe a mão no ombro.
- Tornei a lê-los todos hoje à tarde no hotel. São maravilhosos, Daisy. Não há ninguém como tu. - Torna a beber e cita com um cantarolar curioso:
My saucy bark, inferior far to bis
On your broad main doth bravely appear*1.
Os seus olhos cintilam e está a tentar provocá-la, como costuma fazer.
- Vá lá. Sê honesta. Há outro poeta com um talento do tamanho de um galeão?
Grammaticus está a tentar obter o tributo que acha que lhe é devido. Talvez um pouco cedo de mais. Está a ir muito depressa. É muito possível que Daisy tenha dedicado o livro ao avô, embora isso preocupe Perowne. Mais uma razão por que gostava de ver as provas.
Daisy está confusa. Vai para falar, muda de ideias e depois diz, com um sorriso forçado:
- Vai ter de esperar para ver.
- Claro, Shakespeare não achava que era um barco à vela numa competição no oceano. Estava apenas a tentar ser sardónico. Talvez tu também sejas, minha querida.
Daisy está hesitante, embaraçada, a debater-se com uma decisão. Esconde-se por detrás do seu copo erguido. Depois pousa-o na mesa e parece ter-se decidido.
- Não é «surge corajosamente», avô.
- Claro que é. Fui eu que te ensinei esse soneto.
- Eu sei que foi. Mas o verso não suporta «corajosamente». O que eu escrevi foi «surge teimosamente».
O brilho nos olhos de Grammaticus desaparece completamente. Lança à neta um olhar rígido, que lhe responde com o mesmo olhar feroz que o pai notou na cozinha. Falou como se tivesse sido alvo de uma deslealdade,




Biblio VT




Sábado, 15 de Fevereiro de 2003. Henry Perowne é um homem realizado - neurocirurgião de sucesso, marido dedicado de Rosalind, uma advogada que trabalha num jornal, e pai orgulhoso de dois filhos já crescidos (ela, promissora poetisa, e ele, talentoso músico de blues). Ao contrário do que é habitual, acorda antes do nascer do dia, é atraído para a janela do seu quarto e dominado por uma sensação crescente
de mal-estar. O que o perturba ao olhar para o céu é o estado do mundo - a guerra iminente no Iraque, um pessimismo que não pára de crescer nele desde o 11 de Setembro e o medo de que a sua feliz vida familiar e a sua cidade, com a abertura e diversidade que a caracterizam, estejam ameaçadas.
Mais tarde, Perowne dirige-se para o seu jogo semanal de squash atravessando as ruas de Londres, onde centenas de milhares de pessoas se manifestam contra a guerra. Um pequeno acidente de automóvel fá-lo entrar em confronto com Baxter, um jovem nervoso, agressivo, a raiar a violência. A experiência profissional de Perowne sugere-lhe a existência de qualquer coisa de profundamente errado naquele indivíduo.
Quase no fim de um dia repleto de incidentes, mas em que Perowne celebrou todos os prazeres da vida - música, comida, amor, a excitação do desporto e a satisfação de um trabalho bem feito -, a sua família reúne-se para jantar. Mas, com o súbito aparecimento de Baxter, os receios iniciais de Perowne parecem prestes a materializar-se...
O anterior romance de Ian McEwan, Expiação, foi considerado uma obra-prima em todo o mundo. Sábado partilha a mesma prosa confiante e graciosa e a notável capacidade de percepção, mas é talvez ainda mais envolvente, mostrando como a vida pode mudar num momento, para melhor ou para pior. É a obra de um autor no auge das suas capacidades.
de mal-estar. O que o perturba ao olhar para o céu é o estado do mundo - a guerra iminente no Iraque, um pessimismo que não pára de crescer nele desde o 11 de Setembro e o medo de que a sua feliz vida familiar e a sua cidade, com a abertura e diversidade que a caracterizam, estejam ameaçadas.
Mais tarde, Perowne dirige-se para o seu jogo semanal de squash atravessando as ruas de Londres, onde centenas de milhares de pessoas se manifestam contra a guerra. Um pequeno acidente de automóvel fá-lo entrar em confronto com Baxter, um jovem nervoso, agressivo, a raiar a violência. A experiência profissional de Perowne sugere-lhe a existência de qualquer coisa de profundamente errado naquele indivíduo.
Quase no fim de um dia repleto de incidentes, mas em que Perowne celebrou todos os prazeres da vida - música, comida, amor, a excitação do desporto e a satisfação de um trabalho bem feito -, a sua família reúne-se para jantar. Mas, com o súbito aparecimento de Baxter, os receios iniciais de Perowne parecem prestes a materializar-se...
O anterior romance de Ian McEwan, Expiação, foi considerado uma obra-prima em todo o mundo. Sábado partilha a mesma prosa confiante e graciosa e a notável capacidade de percepção, mas é talvez ainda mais envolvente, mostrando como a vida pode mudar num momento, para melhor ou para pior. É a obra de um autor no auge das suas capacidades.
#
#
#
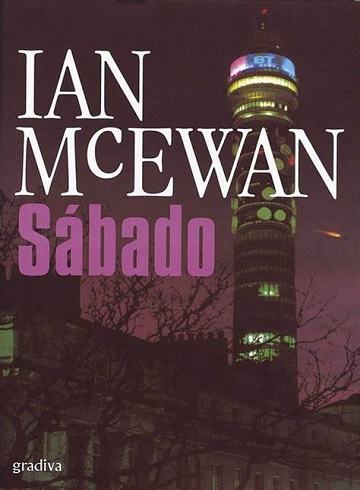
#
#
#
Algumas horas antes do nascer do dia. Henry Perowne, neurocirurgião, acorda e começa imediatamente a mexer-se: senta-se, afasta a roupa e depois põe-se de pé. Não é claro para ele em que momento ficou consciente, nem isso lhe parece relevante. Aquilo nunca lhe acontecera, mas não se sente alarmado nem sequer levemente surpreendido, pois o movimento é fácil, agradável para os seus membros, e sente uma força rara nas costas e nas pernas. Está de pé ao lado da cama, nu - dorme sempre nu -, consciente da sua altura, da respiração paciente da sua mulher e do ar frio do quarto na sua pele. Também essa sensação lhe dá prazer. Na mesa de cabeceira, o relógio mostra que são três e quarenta. Não faz a menor ideia do que está a fazer fora da cama: não precisa de ir à casa de banho, não foi perturbado por nenhum sonho nem por qualquer acontecimento do dia anterior, nem sequer pelo estado do mundo. É como se, ali de pé, na escuridão, se tivesse materializado do nada, inteiramente formado, sem qualquer limitação. Não se sente cansado, apesar da hora e do muito que tem trabalhado ultimamente, nem há qualquer caso recente que lhe perturbe a consciência. Na verdade, está bem desperto, com a cabeça vazia e inusitadamente alegre. Sem que isso corresponda a qualquer decisão ou motivação, começa a dirigir-se para a mais próxima das três janelas do quarto, e a facilidade e leveza com que caminha leva-o mais uma vez a suspeitar que está a dormir ou a ter um ataque de sonambulismo. Se for verdade, ficará desapontado. Os sonhos não lhe interessam; a possibilidade de tudo aquilo ser real é muito mais rica. Além disso, tem a certeza de que está absolutamente consciente e sabe que o sono já ficou para trás: reconhecer a diferença entre estar a dormir e acordado, reconhecer as fronteiras, é a essência da sanidade.
O quarto é grande e espaçoso. Quando o atravessa a deslizar com uma facilidade quase ridícula, a perspectiva de aquela experiência terminar entristece-o por momentos, mas logo a seguir esse pensamento desaparece. Está à janela do meio, abre as portadas de madeira com cuidado para não acordar Rosalind. Com esse gesto está a ser ao mesmo tempo egoísta e solícito. Não quer que ela lhe pergunte o que aconteceu - que poderia responder? Porquê prescindir daquele momento para tentar obter uma resposta? Abre a outra portada, prende-a e abre em silêncio a janela de guilhotina. É bastante maior que ele, mas desliza facilmente para cima, graças ao contrapeso de chumbo escondido algures. A sua pele reage quando ele é envolvido pelo ar de Fevereiro, mas o frio não o perturba. Enfrenta a noite da janela do segundo andar, a cidade sob a sua luz branca e gelada, as árvores como esqueletos na praça e, menos de dez metros abaixo dele, as grades pretas com um remate em forma de seta, como uma fileira de lanças. A temperatura é de um ou dois graus negativos e o ar está límpido. A luz do candeeiro da rua não faz desaparecer todas as estrelas; sobre a fachada do Regency, do outro lado da praça, brilham restos de constelações no lado sul do céu. Aquela fachada é uma reconstrução, um pastiche - o Fitzrovia do tempo da guerra foi atingido pela Luftwaffe -, e por detrás fica a Torre dos Correios, sorumbática durante o dia, mas à noite, meio escondida e decentemente iluminada, um valoroso memorial de tempos mais optimistas.
E hoje, que dias são estes? Os momentos em que mais pensa, confuso e temeroso, são os intervalos da sua ronda semanal. Mas agora não se sente assim. Inclina-se para a frente, apoiando o peso nas palmas das mãos sobre o parapeito da janela e exultando com o despojamento e a clareza da cena. A sua visão - sempre boa - parece ainda mais aguçada. Vê a mica da pedra do passeio cintilar na praça reservada aos peões, excrementos de pombos endurecidos pela distância e pelo frio e transformados em algo quase belo, como pequenos farrapos de neve. Gosta da simetria dos postes de ferro fundido preto, e das suas sombras ainda mais enegrecidas, e do entrançado das tampas das caleiras. O lixo que transvasa dos contentores sugere-lhe abundância e não imundície; os bancos vazios à volta dos jardins circulares parecem-lhe tranquilamente à espera dos seus ocupantes diários - alegres empregados de escritório à hora de almoço, os rapazes da residência indiana, com o seu ar solene e compenetrado, amantes em êxtases silenciosos ou em crise, traficantes de droga crepusculares, a velhota louca com os seus gritos ferozes e assustadores. «Vai-te embora!», grita durante horas a fio, com uma voz rouca que faz lembrar uma ave dos pântanos ou um animal do jardim zoológico.
Imóvel, imune ao frio como uma estátua de mármore, a olhar para Charlotte Street, para a linha confusa das suas múltiplas fachadas, andaimes e telhados empedrados. Henry pensa que a cidade é um sucesso, uma invenção brilhante, uma obra-prima biológica - milhões de pessoas confluem para as sucessivas camadas de realizações ao longo dos séculos, como peixes à volta de um recife de coral, a dormirem, a trabalharem, a divertirem-se, na sua maioria em harmonia, desejando quase todas que tudo corra bem. O próprio canto dos Perownes, um triunfo da congruência de proporções; a praça perfeita concebida por Robert Adam em torno de um círculo perfeito de jardim - um sonho do século xviii inundado pela modernidade, pela luz da rua vinda de cima, e por baixo pelos cabos de fibra óptica, pela água fresca que corre nos canos e pelos detritos levados pelos esgotos num instante de esquecimento.
Observador habitual dos seus estados de espírito, interroga-se sobre a razão daquela euforia estranha e persistente. Talvez tenha havido um acidente químico ao nível molecular enquanto dormia - qualquer coisa como um tabuleiro de bebidas que tombou, levando os receptores dopamínicos a desencadear uma sucessão de eventos intracelulares; ou talvez a perspectiva de um sábado ou uma consequência paradoxal de um cansaço extremo. É verdade que acabou a semana num estado de esgotamento pouco habitual. Quando chegou a casa não havia ninguém. Meteu-se na banheira com um livro, contente por não ter de falar com ninguém. Foi a sua filha Daisy, muito dada às letras, demasiado dada às letras, que lhe mandou a biografia de Darwin, que tem qualquer coisa a ver com um romance de Conrad que quer que ele leia e que ele ainda não começou a ler - as viagens marítimas, por perturbadoras que sejam do ponto de vista moral, não lhe interessam particularmente. Há anos que ela tenta resolver o problema do que considera a espantosa ignorância do pai, orientando a sua educação literária, criticando-o pela falta de gosto e de sensibilidade. Tem uma certa razão - saltou directamente do liceu para a faculdade de Medicina e daí para a vida de escravo de médico estagiário e depois para a imersão total na especialização em neurocirurgia, dividida com o seu empenhamento no papel de pai - com isto, há quinze anos que quase não toca num livro que não seja de Medicina. Por outro lado, já lidou tantas vezes com a morte, o medo, a coragem e o sofrimento que se lhe deparou material suficiente para meia dúzia de literaturas. Apesar de tudo, submete-se às listas de leitura da filha, pois são um meio de se manter em contacto com ela agora que se separou da família em busca da sua maturidade de mulher num subúrbio de Paris; hoje voltará a casa, pela primeira vez em seis meses - outra causa para a sua euforia.
Estava atrasado nos trabalhos passados por Daisy. Controlando de vez em quando mais um jorro de água quente com o dedo grande do pé, leu por alto um texto sobre a impetuosidade com que Darwin escreveu A Origem das Espécies e um resumo das últimas páginas, alteradas em edições posteriores. Ao mesmo tempo ia ouvindo as notícias na rádio. O obstinado Mr Blix estava mais uma vez a discursar nas Nações Unidas - havia uma impressão generalizada de que deitara por terra qualquer justificação de uma guerra. Com a certeza de que nada acrescentara de novo, Perowne desligou o rádio e voltou atrás na leitura. Às vezes aquela biografia provocava nele uma nostalgia reconfortante por uma Inglaterra afectuosa, verdejante, puxada por cavalos. Outras vezes sentia-se ligeiramente deprimido por ver uma vida inteira resumida em algumas centenas de páginas - engarrafada, como chutney feito em casa. E também pela facilidade com que uma existência, ambições, redes de familiares e amigos, tanta coisa acarinhada, podia desaparecer inteiramente. Depois estendeu-se sobre a cama para pensar no jantar, e não se lembrava de mais nada. Rosalind devia tê-lo tapado quando voltou do trabalho. Devia tê-lo beijado. Um homem de quarenta e oito anos, a dormir profundamente às nove e meia da noite numa sexta-feira - é assim a vida profissional moderna. Trabalha muito, toda a gente à sua volta trabalha muito, e aquela semana trabalhara ainda mais por causa de um surto de gripe entre o pessoal do hospital - teve o dobro das cirurgias do costume.
Desdobrando-se e tentando equilibrar as coisas, conseguiu fazer as principais cirurgias numa das salas, supervisionar um assistente noutra sala e fazer ainda intervenções menores numa terceira sala. Actualmente tem dois assistentes de neurocirurgia a trabalhar com ele - Sally Madden, quase inteiramente habilitada e fiável, e Rodney Browne, da Guiana, talentoso, trabalhador, mas ainda inseguro. Jay Strauss, o anestesista que costuma trabalhar com Perowne, também tem um assistente, Gita Syal. Durante três dias, com Rodney a seu lado, Perowne foi transitando entre as três salas - com o som das suas socas no chão polido do corredor e os diversos guinchos e gemidos das portas de vaivém do bloco operatório a fazerem uma espécie de acompanhamento de orquestra. A lista de sexta-feira foi típica. Enquanto Sally suturava um doente, Perowne foi para a sala ao lado aliviar uma senhora de idade da sua nevralgia do trigémeo, o seu tique doloroso. Essas intervenções ainda lhe dão prazer - gosta de ser rápido e preciso. Meteu-lhe o indicador enluvado até ao fundo da boca para sentir a via e depois, quase sem ter de olhar para o intensificador de imagem, enfiou-lhe uma agulha comprida pelo lado de fora da cara até atingir o gânglio do trigémeo. Jay veio da sala ao lado no momento em que Gita acordava momentaneamente a senhora. A estimulação eléctrica da ponta da agulha provocou-lhe uma picada no rosto e, depois de ter confirmado, com ela meio ensonada, que a posição estava correcta - Perowne encontrara-a à primeira -, foi de novo adormecida para o nervo poder ser «cozido» por termocoagulação por radio-frequência. A ideia era eliminar-lhe a dor e ao mesmo tempo deixá-la suficientemente consciente para sentir um ligeiro toque - tudo isto em quinze minutos, que bastavam para acabar três anos de sofrimento, de dor forte e aguda.
Clipou um aneurisma no meio da artéria cerebral - arte em que é um verdadeiro mestre - e fez uma biopsia a um tumor no tálamo, uma região que não é possível operar. O doente era um tenista profissional de vinte e oito anos, que já sofria de perda aguda de memória.
Assim que Perowne tirou a agulha das profundezas do seu cérebro viu que o tecido era anormal. Não tinha muitas esperanças na radioterapia nem na quimioterapia. Recebeu a confirmação verbal do laboratório e à tarde foi dar a notícia aos pais do rapaz.
O caso seguinte foi uma craniotomia por causa de um meningioma numa mulher de cinquenta e três anos, directora de uma escola primária. O tumor estava sobre a zona do cérebro que controla o movimento, perfeitamente definido, sendo facilmente desbravado pelo seu dissector Rhoton, num processo inteiramente curativo. Sally suturou a doente, enquanto Perowne foi à sala ao lado fazer uma laminectomia lombar múltipla num homem obeso de quarenta e quatro anos, um jardineiro que trabalhava em Hyde Park. Teve de cortar dez centímetros de gordura subcutânea para chegar às vértebras, e o homem agitava-se em vão na marquesa sempre que Perowne exercia pressão para cortar o osso.
A pedido de um otorrinolaringologista seu amigo, abriu um canal acústico num rapaz de dezassete anos - é estranho esses especialistas retraírem-se sempre que têm de fazer cortes difíceis. Perowne fez-lhe um corte grande e rectangular, atrás da orelha, o que demorou bastante mais de uma hora e irritou Jay Strauss, que achava que estavam a deixar para trás os seus próprios doentes. Por fim o tumor surgiu sob a lente do microscópio - um pequeno schwannoma vestibular a pouco mais de três milímetros da cóclea. Deixando ao seu amigo especialista a tarefa de realizar a excisão, fora rapidamente fazer outra pequena cirurgia, que o irritou bastante - uma jovem vistosa, sempre com um ar muito ofendido, queria que lhe mudasse o seu estimulador espinal das costas para a parte da frente. Ainda há um mês o tinha mudado para a posição inversa, por ela se queixar de que a incomodava muito quando se sentava. Agora dizia que o estimulador a impossibilitava de se deitar. Fez-lhe uma longa incisão no abdómen e perdeu um tempo precioso, além de ter sido obrigado a enfiar os braços quase até aos cotovelos dentro dela à procura do fio da bateria. Tinha a certeza que a doente voltaria dentro de pouco tempo.
Ao almoço comeu uma sanduíche de atum com pepino e bebeu uma garrafa de água mineral. No café apinhado, onde o cheiro a torradas e a massas feitas no microndas lhe faz sempre lembrar os cheiros das grandes cirurgias, sentou-se ao lado de Heather, a empregada cockney, muito acarinhada, que limpa as salas nos intervalos das cirurgias. Contou-lhe que o genro tinha sido preso e acusado de assalto à mão armada, depois de ter sido identificado por engano na polícia. Mas tinha um álibi perfeito - na altura do crime estava no dentista a arrancar um dente do siso. Noutra parte da sala falava-se da epidemia de gripe - uma das enfermeiras e uma assistente de Jay tinham sido obrigadas a ir para casa nessa manhã. Passados quinze minutos Perowne voltou ao trabalho. Enquanto na sala ao lado Sally abria um orifício no crânio de um homem de idade, um polícia de trânsito reformado, para aliviar a pressão de uma hemorragia interna proveniente de um hematoma subdural crónico, Perowne recorreu ao equipamento mais recente do bloco operatório, um sistema de imagem computorizada, para fazer uma craniotomia para ressecção de um glioma frontal posterior direito. Depois deixou que fosse Rodney a fazer outro orifício para um subdural crónico.
O ponto alto da lista do dia foi a remoção de um astrocitoma poliquístico a uma nigeriana de catorze anos que vivia em Brixton com a tia e o tio, vigário da Igreja Anglicana. A melhor forma de chegar ao tumor era pela parte de trás da cabeça, por uma via infratentorial supracerebelar, com a doente anestesiada e sentada, o que punha alguns problemas especiais a Jay Strauss, pois havia a possibilidade de o ar entrar por uma veia e causar uma embolia. Andrea Chapman era uma doente problemática e uma sobrinha problemática.
Viera para Inglaterra com doze anos - os tios, consternados, mostraram uma fotografia a Perowne, onde se via uma rapariga enfezada com um vestido, uns laços apertados e um sorriso tímido. Tudo o que a sua vida numa aldeia rural do Norte da Nigéria tivesse deixado preso dentro dela fora libertado mal entrara para a escola preparatória de Brixton. Passou a gostar da música, da maneira de vestir, da maneira de falar, dos valores - da rua. O vigário achava que ela era descontraída, enquanto a sua mulher tentava vigiar Andrea. A sobrinha drogava-se, embebedava-se, roubava nas lojas, faltava à escola, odiava a autoridade e «praguejava como um marinheiro». Seria o tumor que estava a pressionar-Lhe alguma zona do cérebro?
Perowne não pôde reconfortá-los com essa confirmação. O tumor estava distante dos lobos frontais. Estava na parte superior do cerebelo. Ela já tinha tido cefaleias matinais, cegueira momentânea e ataxia, sintomas que não conseguiram afastar as suas suspeitas de que a situação em que se encontrava fazia parte de uma conspiração - o hospital, em conluio com os seus tutores, a escola, a polícia - para a impedir de passar a noite em discotecas. Poucas horas depois de ter sido internada já entrara em conflito com as enfermeiras, a irmã responsável pela enfermaria e uma doente de idade que disse que não admitia aquela linguagem obscena. Perowne também teve dificuldade em convencê-la a aceitar as provações que se avizinhavam. Mesmo quando estava mais calma parecia falar como uma rapper na MTV, abanando a parte de cima do corpo quando estava sentada na cama, fazendo movimentos circulares com as palmas das mãos voltadas para baixo, como se estivesse a preparar o ar à sua volta para mais uma das suas tempestades. Mas Perowne admirava a sua coragem, os seus olhos escuros intensos, os seus dentes perfeitos e sua língua rosada a fustigar as palavras que formava. Sorria alegremente, mesmo quando gritava aparentemente em fúria, como se se divertisse a ver até onde podia ir sem que nada lhe acontecesse. Foi preciso Jay Strauss, um americano com um calor e uma franqueza que mais ninguém tinha naquele hospital inglês, para a pôr na linha.
A operação de Andrea demorou cinco horas e correu bem. Sentaram-na com a cabeça presa a uma estrutura à sua frente. Abrir a parte de trás da cabeça é um processo que requer grande cuidado, pois os vasos sanguíneos estão muito perto do osso. Rodney debruçou-se ao lado de Perowne para ir irrigando a broca e cauterizando a hemorragia com electrocoagulação bipolar. Por fim chegaram ao tentório - uma estrutura delicada, de uma cor pálida, extremamente bela, como o pequeno remoinho de uma dança dos véus, onde a dura-máter se une e torna a separar. Por baixo fica o cerebelo. Com incisões cuidadosas, Perowne permitiu que fosse a força da gravidade a puxar o cerebelo para baixo - sem necessidade de rectractores - e assim viram mais fundo, até à região da glândula pineal, à frente da qual se encontrava a vasta massa vermelha do tumor. O astrocitoma estava bem delimitado e só tinha infiltrado parcialmente os tecidos circundantes. Perowne conseguiu retirá-lo quase todo sem afectar qualquer região importante.
Deixou Rodney utilizar o microscópio e o aspirador durante vários minutos e também suturar a doente. Foi o próprio Perowne que lhe ligou a cabeça e quando saiu do bloco não se sentia nada cansado. Operar nunca o cansava - quando está ocupado no mundo fechado do bloco operatório e das intervenções que tem de realizar e absorvido pela proximidade da imagem do microscópio enquanto segue por um corredor que o levará ao sítio que pretende, sente-se dotado de uma capacidade sobre-humana e de um forte desejo de trabalhar.
Quanto ao resto da semana, as duas manhãs de consultas não foram mais exigentes que o habitual. É demasiado experiente para se deixar afectar pelos vários tipos de angústia com que é confrontado - a sua obrigação é ser útil. As rondas pelas enfermarias e as reuniões semanais também não o cansaram. Foi a burocracia da tarde de sexta-feira que o deixou em baixo, os registos dos doentes que tinham sido encaminhados para si e dos doentes que encaminhou para outros médicos, trabalhos para apresentar em duas conferências, cartas para colegas e editores, uma recensão crítica inacabada, sugestões para iniciativas de gestão, alterações à estrutura da Fundação e a revisão de alguns exercícios práticos. É preciso verificar de novo o plano de emergência do hospital. Um simples choque de comboios já deixou de ser o pior que há a temer. Hoje em dia, palavras como «catástrofe», «grande número de vítimas», «guerra química e biológica» e «ataque em massa» tornaram-se quase inócuas à força de serem repetidas. O ano anterior assistira ao aparecimento de novas comissões e subcomissões e de cadeias de comando que se estendiam para lá do hospital, para lá das hierarquias médicas, até zonas remotas da administração pública e do Ministério da Administração Interna.
Perowne ia ditando com uma voz monótona e muito depois de a secretária ter ido para casa ainda ele estava a escrever ao computador no meio do calor insuportável do seu gabinete no terceiro andar do hospital. A sua única limitação era uma falta de fluência que não era habitual. Orgulhava-se do seu estilo rápido, elegante e rebuscado. Nunca precisava de pensar muito - escrevia e compunha ao mesmo tempo. Mas naquele dia estava hesitante. Embora não tivesse esquecido o jargão profissional - era uma segunda natureza para ele -, a sua prosa ia-se acumulando de forma desajeitada. Algumas palavras traziam-Lhe à mente objectos desajustados - bicicletas, cadeiras de bordo, cabides - que lhe dificultavam o caminho. Compunha mentalmente uma frase, depois perdia-a na página ou criava um beco sem saída gramatical que só conseguia transpor à custa de muito suor. Não parou para pensar se aquela debilidade seria uma causa ou uma consequência do seu cansaço. Às oito da noite terminou a última de uma série de mensagens de correio electrónico e levantou-se da secretária sobre a qual se encontrava debruçado desde as quatro da tarde. Antes de sair foi ver os seus doentes que estavam nos cuidados intensivos. Não havia nenhum problema e Andrea estava bem - estava a dormir e todos os sinais eram bons. Menos de meia hora depois já estava em casa, na banheira, e pouco depois também ele estava a dormir.
Duas pessoas com sobretudos escuros atravessam a praça em diagonal, do lado onde ele se encontra em direcção a Cleveland Street, com os saltos altos a matraquearem num estranho contraponto - certamente duas enfermeiras que se dirigem para casa, embora seja uma hora estranha para sair do turno. Não vão a falar e, embora os seus passos não estejam sincronizados, caminham perto uma da outra, quase a tocarem-se nos ombros, de uma forma íntima e fraterna. Passam mesmo por baixo dele e fazem um quarto de círculo em torno dos jardins antes de desaparecerem. Há qualquer coisa de tocante na forma como a sua respiração se ergue atrás delas em singelas nuvens de vapor à medida que se vão afastando, como se participassem numa brincadeira de crianças, imitando comboios a vapor. Dirigem-se para o canto mais distante da praça e, com a vantagem que a altura a que se encontra lhe dá e com o seu espírito curioso, não só as observa, mas também as vigia, supervisionando o seu progresso, com o longínquo sentimento de posse de um deus. Atravessam a noite, por entre um frio inerte, como dois motores biológicos com dois pedais adaptados a qualquer terreno e dotados de inúmeras redes nervosas encerradas numa embalagem de osso, fibras e filamentos com o seu brilho invisível de consciência - estes motores desbravam os seus próprios caminhos.
Há alguns minutos que está à janela, a exaltação está a desaparecer e ele começa a tremer de frio. Nos jardins, rodeados por um gradeamento alto, vê-se uma ligeira camada de geada sobre as depressões e as elevações do relvado para lá da fileira de plátanos. Vê uma ambulância com a sirene desligada e as luzes azuis a piscarem voltar para Charlotte Street e acelerar em direcção a sul, talvez para o Soho. Sai da janela e vai buscar um roupão grosso de lã, que está em cima de uma cadeira. No momento em que se vira apercebe-se da presença de um elemento novo lá fora, na praça ou no meio das árvores, brilhante mas sem cor, esbatido na sua visão periférica pelo movimento da cabeça. Mas não olha logo para trás. Está com frio e quer vestir o roupão. Pega nele, enfia um braço numa manga e só volta para a janela quando já está à procura da outra manga e a apertar o cinto à volta da cintura.
Não compreende logo o que está a ver, embora ache que sim. No primeiro momento, com a sua ansiedade e curiosidade, atribui-lhe proporções planetárias: é um meteoro a arder no céu de Londres, a atravessá-lo da esquerda para a direita, perto do horizonte, mas bem visível dos edifícios mais altos. Mas os meteoros parecem setas, ou agulhas. Vêem-se de relance, num lampejo, antes de serem consumidos pelo seu próprio calor. Aquilo está a deslocar-se devagar, até majestosamente. Aumenta rapidamente a sua perspectiva para a escala do sistema solar: aquele objecto não está a centenas de milhões de quilómetros de distância a rodopiar numa órbita intemporal à volta do Sol. É um cometa colorido de amarelo, com o seu habitual núcleo brilhante a arrastar uma causa feérica. Viu o Hale-Bopp com Rosalind e os filhos do cimo de um outeiro em Lake District, e sente-se de novo grato por estar a vislumbrar algo de verdadeiramente impessoal, para além dos limites da Terra. Mas isto é melhor, mais brilhante, mais rápido, e ainda mais impressionante por ser inesperado. Deve ter-lhes escapado a cobertura pelos meios de comunicação.
Têm trabalho de mais. Vai acordar Rosalind - sabe que ela vai ficar empolgada pela visão -, mas não sabe se chegará à janela antes de o cometa desaparecer. Isso fará que também ele não o veja. Mas é algo demasiado extraordinário para não ser partilhado.
Está a dirigir-se para a cama quando ouve um estrondo rouco, um trovão distante que vai aumentando de volume, e pára para ouvir. Isso diz-lhe tudo. Olha para trás, para a janela, por cima do ombro, para confirmar a sua ideia. Claro que um cometa está tão distante que parece estar parado. Horrorizado, regressa à sua posição na janela. O som vai subindo de volume, numa progressão constante, enquanto ele revê a sua escala, desta vez diminuindo-a, da poeira solar e do gelo para uma dimensão local. Só passaram três ou quatro segundos desde que viu pela primeira vez aquele fogo no céu e já mudou duas vezes de opinião em relação a ele. Está a seguir uma rota que ele próprio já seguiu muitas vezes na vida, ao longo da qual percorre uma série de rotinas, como ajustar o assento, acertar o relógio, guardar os papéis, sempre com curiosidade de ver se consegue descobrir a sua casa no meio daquela extensão imensa de um laranja-acinzentado quase belo; de leste para oeste, sobre as margens sul do Tamisa, a mais de seiscentos metros de altitude, na abordagem final a Heathrow.
Está exactamente a sul dele naquele momento, a pouco mais de um quilómetro de distância, prestes a passar por cima do entrançado dos plátanos despidos e depois por trás da Torre dos Correios, ao nível das parabólicas mais baixas. Apesar das luzes da cidade, os contornos do avião não são visíveis na escuridão da madrugada. O fogo deve ser na asa mais próxima, na união com a fuselagem ou talvez num dos motores que ficam por baixo. A parte mais visível do fogo é uma esfera branca achatada e arrastada por um cone amarelo e vermelho, menos parecido com um meteoro ou um cometa que com a estranha imagem que um artista poderia produzir de qualquer deles. Como a fingir normalidade, as luzes do trem de aterragem vão a piscar, mas o som do motor diz tudo. Sob o rugido forte e profundo há um som tenso, abafado, como de um louco, a aumentar de volume - é ao mesmo tempo um berro e um grito suspenso, um barulho impuro e sujo que sugere um esforço mecânico insustentável, para lá da capacidade do aço temperado, a subir em espiral até um ponto extremo, elevando-se irresponsavelmente como o acompanhamento de um terrível carrossel. Há qualquer coisa prestes a ceder.
Já não está a pensar em acordar Rosalind. Porquê acordá-la para assistir àquele pesadelo? Aliás, o espectáculo a que assiste tem a familiaridade de um sonho recorrente. À semelhança da maior parte dos passageiros, aparentemente subjugados pela monotonia das viagens de avião, Perowne deixa muitas vezes os seus pensamentos percorrerem todo um leque de possibilidades enquanto está docilmente sentado, preso por um cinto de segurança, à frente de uma refeição empacotada. Lá fora, para lá de uma parede fina de aço e de plástico que vai rangendo alegremente, estão sessenta graus negativos e o avião está a doze mil metros do solo. Ao sobrevoar o Atlântico à velocidade de um quilómetro e meio por segundo alinhamos na mesma loucura em que todos os outros alinham. O passageiro ao nosso lado está tranquilo porque nós e todas as outras pessoas à nossa volta parecem calmas. Vistas de uma determinada perspectiva - mortes por passageiro por milha - as estatísticas são consoladoras. Mas que outra maneira há de assistir a uma conferência no Sul da Califórnia? As viagens de avião são um mercado especulativo, um truque de percepções espelhadas, uma aliança frágil de fé colectiva; desde que os nervos estejam sob controlo e não haja bombas ou terroristas a bordo, toda a gente está feliz. Quando qualquer coisa falha, não há meias medidas. De outra perspectiva - mortes por viagem -, os números já não são tão bons. O mercado podia entrar em queda.
De garfo de plástico na mão, pergunta muitas vezes a si próprio como seria - os gritos na cabina parcialmente abafados pela insonorização acústica, mãos a remexerem em sacos à procura de telefones e de últimas palavras, os tripulantes aterrorizados, agarrados aos fragmentos que ainda recordam dos procedimentos, o cheiro igualitário a merda. Mas a cena imaginada a partir do exterior, tão de longe como se encontra agora, é igualmente familiar. Há quase dezoito meses que o mundo viu e tornou a ver os prisioneiros invisíveis levados pelos céus em direcção ao matadouro, e em cada um desses momentos a silhueta inocente de um avião a jacto foi objecto de uma nova associação. Toda a gente concorda que hoje em dia os aviões têm um aspecto diferente no céu, como objectos predatórios ou condenados.
Henry sabe que é um truque óptico que o leva a pensar que consegue ver um contorno, uma forma mais escura contra a escuridão. O uivo do motor a arder continua a subir até um ponto extremo. Não o surpreenderia ver as luzes acenderem-se por toda a cidade e a praça encher-se de pessoas de roupão. Atrás dele, Rosalind, habituada a expurgar do seu sono os problemas nocturnos da cidade, vira-se de lado. Provavelmente o barulho não é mais incómodo que o de uma sirene em Euston Road. O núcleo branco a arder e a sua cauda colorida tornaram-se maiores - nenhum passageiro que estivesse sentado nessa parte central do avião poderia sobreviver. É esse o outro elemento familiar - o horror do que não consegue ver. A catástrofe observada de uma distância segura. Assistir à morte em larga escala sem ver ninguém morrer. Nem sangue, nem gritos, nem figuras humanas e, naquele vazio, a imaginação à solta. A luta até à morte no cockpit. Um grupo de passageiros corajosos a reunir-se para um ataque desesperado aos fanáticos. Para que sítio do avião se poderia correr para fugir ao calor do fogo? O lado do piloto talvez parecesse menos solitário. Será uma loucura patética tentar tirar a mala do cacifo ou um optimismo necessário? A senhora muito pintada que delicadamente nos serviu um croissant com doce tentará agora deter-nos?
O avião sobrevoa as copas das árvores. Por instantes, o fogo lampeja festivamente por entre os ramos. De repente, Perowne lembra-se de que talvez devesse fazer qualquer coisa. Quando os serviços de emergência tiverem anotado e transferido a sua chamada, o que iria acontecer já terá acontecido. Se estiver vivo, o piloto já terá comunicado via rádio. Talvez já estejam a cobrir a pista de espuma. Nesta fase será inútil ir apresentar-se no hospital. Segundo o plano de emergência, Heathrow não fica na sua área. Algures, mais para oeste, os médicos deitados nos seus quartos mergulhados na penumbra estarão a ajeitar a roupa da cama sem fazerem a mínima ideia do que os espera. Falta descer quinze milhas. Se o depósito de combustível explodir agora, não haverá nada a fazer.
O avião aparece para lá das árvores, percorre um espaço vazio e torna a desaparecer por detrás da Torre dos Correios. Se Perowne fosse dado a sentimentos religiosos, a explicações sobrenaturais, diria que fora chamado, que tinha de reconhecer uma ordem escondida, uma inteligência exterior que queria dizer-lhe ou mostrar-lhe qualquer coisa pelo facto de ter acordado com um estado de espírito tão pouco habitual e de ter ido à janela sem nenhum motivo especial. Mas uma cidade como aquela cultiva a insónia; é ela própria uma entidade que nunca dorme e cujos fios nunca param de cantar; entre tantos milhões de habitantes tem de haver pessoas à janela que normalmente deveriam estar a dormir. E não necessariamente as mesmas pessoas todas as noites. O facto de ser ele e não outra pessoa é puramente arbitrário e envolve um princípio antrópico. O primeiro pensamento de uma pessoa com tendências para o sobrenatural corresponde ao que os seus colegas psiquiatras chamam um problema ou uma ideia de referência. Um excesso de subjectivismo, o ordenamento do mundo em linha com as suas necessidades, a incapacidade de contemplar a sua própria insignificância. Na opinião de Henry, esse raciocínio pertence a um espectro em cuja extremidade surge, como um templo abandonado, a psicose.
Pode ter sido um raciocínio deste tipo a causar o fogo no avião. Um homem com uma fé inabalável e uma bomba no salto do sapato. Por entre os passageiros aterrorizados, muitos podem estar a rezar - outro problema de referência - pedindo ao seu próprio deus que interceda. Se houver mortes, ao próprio deus que as ordenou será em breve pedido conforto, no momento dos funerais. Perowne considera tratar-se de uma questão complexa, de uma complicação humana fora do alcance da moral. Dela também advêm, para além da falta de lógica e da carnificina, pessoas boas, actos meritórios, belas catedrais, mesquitas, cantatas, poesia. Uma vez ficou espantado e indignado ao ouvir um padre defender a ideia de que até a negação de Deus é um exercício espiritual, uma forma de oração: não é fácil fugir às garras dos crentes. O melhor que há a esperar em relação ao avião é que tenha sofrido um simples acidente mecânico e secular.
Passa para lá da Torre e começa a retroceder para oeste, através de uma zona de céu limpo, com um ligeiro ângulo para norte. O fogo parece diminuir com aquela lenta mudança de perspectiva. Agora vê sobretudo a cauda com a luz a piscar. O barulho da exaustão do motor está a enfraquecer. O trem de aterragem estará descido? Ao mesmo tempo que faz a pergunta a si próprio, deseja que assim seja. Será uma espécie de prece? Não está a pedir favores a ninguém. Mesmo quando as luzes de aterragem já estão reduzidas a nada, ele continua a olhar para o céu a ocidente, temendo assistir a uma explosão, sem conseguir desviar os olhos. Ainda com frio, apesar do roupão, limpa a vidraça da condensação da sua respiração e pensa quão distante parece agora aquele estado de espírito exaltado e inesperado que o fez sair da cama. Por fim estica-se para desprender as portadas e tapar o céu.
Ao afastar-se da janela lembra-se da famosa experiência de pensamento de que ouviu falar num curso de Física. Um gato, o gato de Schrõdinger, está escondido numa caixa tapada e ou está vivo ou acabou de ser morto por um martelo activado aleatoriamente que parte um frasco de veneno. Até o observador levantar a tampa da caixa, ambas as possibilidades, de o gato estar vivo ou morto, coexistem em universos paralelos, igualmente reais. O momento em que a tampa é levantada e o gato fica à vista põe fim a uma onda quântica de probabilidades. Nunca nada disto fez qualquer sentido para ele. Nenhum sentido humano. Certamente outro exemplo de um problema de referência. Ouviu dizer que até os físicos estão a desistir dele. Henry acha que é algo que está para lá dos requisitos da prova: um resultado, uma consequência, tem uma existência individual no mundo, é conhecido por outras pessoas, mas é independente dele e está à espera de ser descoberto por ele. Nessa altura, o que acabará será a sua própria ignorância. Seja qual for o resultado, já está delineado. E, seja qual for o destino dos passageiros, quer estejam assustados quer se sintam seguros ou estejam mortos, naquela altura já terão chegado ao destino.
Na primeira consulta, a maior parte das pessoas lança um olhar furtivo às mãos do cirurgião na esperança de que elas as tranquilizem. Os futuros doentes procuram descobrir nelas delicadeza, sensibilidade, firmeza, até talvez uma palidez imaculada. Isso leva a que Henry Perowne perca vários casos por ano. Normalmente, sabe o que vai acontecer antes do doente: este olha várias vezes para o chão, as perguntas que tinha preparado começam a falhar, agradece várias vezes de uma forma demasiado empática ao dirigir-se para a porta. Outros doentes não gostam do que vêem, mas não estão conscientes do seu direito a procurarem outro médico; outros reparam nas mãos, mas sentem-se acalmados pela reputação, ou tanto lhes faz; e há ainda os que não reparam em nada, nem sentem nada, ou não conseguem comunicar devido à deficiência cognitiva que motivou a sua vinda.
Perowne não se importa. Os desertores que batam a outra porta, no mesmo corredor ou do outro lado da cidade. Outros doentes tomarão o seu lugar. O mar da infelicidade neural é vasto e profundo. As suas mãos são suficientemente firmes, mas são grandes. Se fosse um bom pianista - toca por passatempo, mas sem jeito -, as suas mãos conseguiriam tocar ao mesmo tempo notas separadas por dez teclas. São mãos com nós e tendões protuberantes, com uma pequena mancha de pêlos ruivos na base de cada dedo - cujas pontas são largas e chatas, como as ventosas de uma salamandra. Os polegares têm um tamanho imodesto e são curvados para trás, estilo banana, e até em repouso parecem desconjuntados, mais apropriados para o circo, por entre palhaços e trapezistas, que às mãos de um cirurgião. E as mãos, como grande parte da restante pele de Perowne, estão alegremente sarapintadas de melanina alaranjada e castanha até aos nós dos dedos. Certo tipo de clientes acha isso estranho, até impróprio. Não querem aquelas mãos, mesmo tapadas com luvas, a escarafuncharem o seu cérebro.
São as mãos de um homem alto e vigoroso, a quem os últimos anos têm dado algum peso e pose. Quando tinha vinte anos e vestia um casaco de tweed parecia um cabide. Quando estica as costas, tem mais de um metro e oitenta. A sua ligeira curvatura dá-lhe um ar apologético, que para muitos doentes é um dos factores do seu encanto. Também se sentem à vontade graças à sua forma pouco assertiva de falar e aos seus olhos de um verde suave, com rugas marcadas pelo riso aos cantos. Até aos quarenta e poucos anos, as sardas pueris que lhe cobriam as faces e a testa tinham o mesmo efeito, mas ultimamente começavam a tornar-se menos visíveis, como se a sua posição hierárquica o tivesse finalmente obrigado a abandonar a sua aparência frívola. Os doentes ficariam menos satisfeitos se soubessem que ele nem sempre está a ouvi-los. Às vezes está a sonhar acordado. Como uma chamada de atenção para o trânsito no rádio do carro, por vezes uma narrativa sombria pode surgir-lhe na mente, urgente e indesejada, mesmo durante uma consulta. Tem jeito para disfarçar e continua a acenar com a cabeça ou a franzir a testa ou a fechar firmemente a boca em torno de um leve sorriso. Quando volta à realidade, alguns segundos depois, tem sempre a sensação de que não perdeu grande coisa.
Em certa medida, a curvatura das suas costas é enganadora. Perowne sempre teve ambições físicas e tem relutância em abdicar delas. Nas suas rondas percorre os corredores com um passo impaciente, que o seu séquito tem dificuldade em acompanhar. É mais ou menos saudável. Quando se observa ao espelho de corpo inteiro da casa de banho depois de tomar duche, nota um certo espessamento, um inchaço quase sensual sob as costelas, que desaparece quando se põe muito direito ou quando levanta os braços. Por outro lado, os seus músculos - os peitorais, os abdominais -, embora modestos, mantêm uma definição razoável, sobretudo quando o candeeiro do tecto está apagado e a luz vem de lado. Ainda não está acabado. O cabelo, apesar de estar a ficar mais ralo, continua a ser ruivo. Só na zona púbica aparecem os primeiros caracóis prateados.
Continua a correr quase todas as semanas em Regent's Park, pelos jardins restaurados de William Nesfield, para lá do Lion Tazza até Primrose Hill e depois para trás. E continua a ganhar a alguns dos médicos mais novos ao squash, centrando os seus passes longos no T que está ao meio do court,
de onde lança as boladas altas, de que se orgulha particularmente. Ganha quase sempre ao anestesista com quem joga aos sábados. Contudo, quando o seu adversário é suficientemente bom para o tirar do centro do court e o fazer correr. Henry não aguenta mais de vinte minutos. Encostado à parede do fundo, mede discretamente a pulsação, perguntando a si próprio se a sua estrutura de homem de quarenta e oito anos aguentará um ritmo de cento e noventa batidas por minuto. Houve um dia em que tinha dois jogos de vantagem em relação a Jay Strauss quando foram chamados - foi quando houve o choque de comboios em Paddington e toda a gente foi chamada - e trabalharam doze horas a fio de ténis e calções por baixo da bata. Todos os anos Perowne corre uma meia maratona de beneficência e diz-se, erradamente, que todos os seus subalternos que quiserem ser promovidos têm de a correr também. No ano anterior tinha feito uma hora e quarenta e um minutos, onze minutos abaixo da sua melhor marca. A falta de assertividade também é enganadora - é mais estilo que carácter. Não é possível ser-se um cirurgião do cérebro e não se ser assertivo. Como é natural, os alunos e os médicos mais novos têm menos experiência do seu encanto que os doentes. O aluno que, na presença de Perowne, se referiu a uma TAC com as palavras «na parte de baixo do lado esquerdo» provocou-lhe um ataque momentâneo de raiva e foi envergonhado e mandado embora para ir reaprender a localização das lesões. No bloco operatório, a equipa de Perowne diz que ele está no extremo da inexpressividade: não começa a utilizar obscenidades quando as dificuldades e os riscos aumentam, não murmura ameaças de expulsar algum incompetente da sala, não tem nenhum daqueles apartes dos tipos duros - pronto, lá vêm as lições de violino - que supostamente aliviam a tensão. Pelo contrário, na opinião de Perowne, quando as coisas são difíceis é melhor conter a tensão. Nesses momentos prefere os murmúrios concisos ou o silêncio. Se algum assistente se queixa
da posição de um retractor ou a instrumentista lhe põe na mão uma pinça para pituitária num ângulo estranho, Perowne pode, num dia mau, soltar um «merda» em staccato, particularmente perturbador pela sua raridade e pela sua falta de ênfase, e nesses momentos o silêncio da sala torna-se mais pesado. Gosta de ter música na sala quando está a operar, sobretudo obras de Bach ao piano - as Variações Goldberg, o Cravo Bem Temperado, as Partitas. Os seus preferidos são Angela Hewitt, Martha Argerich, às vezes Gustav Leonhardt. Quando está muito bem disposto, admite as interpretações mais soltas de Glenn Gould. Nas reuniões da administração gosta de precisão, de todos os assuntos discutidos e decididos no tempo previsto e, para que assim seja, é um presidente eficaz. As divagações exploratórias e as anedotas dos colegas mais velhos, toleradas pela maior parte dos participantes como um jogo ocupacional, deixam-no impaciente; fantasiar deve ser uma actividade solitária. As decisões são de todos.
Por isso, apesar da postura apologética, das suas maneiras delicadas e da sua tendência para de vez em quando sonhar acordado, é raro Perowne hesitar como hesita naquele momento - parado aos pés da cama, sem conseguir decidir se deve ou não acordar Rosalind. Não faz sentido. Não há nada para ver. É um impulso inteiramente egoísta. O despertador dela vai tocar às seis e meia e depois de ele lhe contar a história de certeza que não conseguirá tornar a adormecer. Ouvi-la-à até ao fim. Tem um dia difícil pela frente. Agora que as portadas estão fechadas e se encontra de novo às escuras, Perowne tem a noção da agitação em que se encontra. Os seus pensamentos são frágeis e vertiginosos - não consegue manter nenhuma ideia tempo suficiente para lhe perceber o sentido. Sente-se de alguma forma culpado, mas também sem saber o que fazer. São sentimentos contraditórios, mas não inteiramente, e é a sua sobreposição, a forma como expressam a mesma coisa de ângulos diferentes, que sente necessidade de compreender. Culpado na sua incapacidade de decidir. Impotentemente culpado. Vacila e pensa outra vez no telefone. À luz do dia não parecerá uma atitude negligente não ter ligado para os serviços de emergência? Será óbvio que não havia nada a fazer, que não havia tempo? O seu crime foi ficar na segurança do quarto, envolto num roupão de lã, sem se mexer nem fazer qualquer som, meio a sonhar enquanto via pessoas morrer. Sim, devia ter telefonado, nem que fosse para falar, para avaliar a sua voz e os seus sentimentos perante os de um estranho.
E é por isso que quer acordá-la, não apenas para lhe dar a notícia, mas por estar algo perturbado, por estar sempre a fugir da sua linha de raciocínio. Quer prender-se aos pormenores exactos daquilo que viu, organizá-los para a mente pragmática e legal de Rosalind, para o seu olhar firme. Gostaria de sentir o contacto das suas mãos - são pequenas e macias, sempre mais frescas que as suas. Já não fazem amor há cinco dias - foi na segunda-feira de manhã, antes do noticiário das seis, durante uma chuvada torrencial, apenas com a luz ténue da casa de banho, vinte minutos arrancados (como costumam dizer por piada) às mandíbulas do trabalho. Na vida ambiciosa das pessoas de meia-idade parece só haver o trabalho. Às vezes fica no hospital até às dez da noite; é o trabalho que às vezes o tira da cama às três da manhã, para voltar a apresentar-se às oito. O trabalho de Rosalind desenvolve-se numa série de lentos crescendos e fins abruptos, que acompanham a sua tentativa de manter o seu jornal afastado de processos em tribunal. Há dias, até semanas a fio, em que todas as suas horas são determinadas pelo trabalho; é a maré, o ciclo lunar pelo qual alinharam as suas vidas, e sem ele pode parecer que não há nada, que Henry e Rosalind Perowne não são nada.
Henry não consegue resistir à urgência dos seus casos, nem negar o prazer egoísta que retira da sua própria competência, nem a alegria que lhe dá ver o alívio dos doentes quando sai da sala de operações como um deus, um anjo com a boa nova - a vida, não a morte. Os melhores momentos de Rosalind são fora do tribunal, quando um litigante poderoso cede perante uma argumentação superior, ou, mais raramente, quando um julgamento lhe corre bem e estabelece um princípio legal. Uma vez por semana, normalmente ao domingo à noite, colocam as agendas lado a lado, como pequenos seres em acasalamento, para que os compromissos de cada um possam ser transferidos para a agenda do outro num raio de infravermelhos. Quando roubam tempo para fazerem amor, deixam sempre os telefones ligados. Por uma espécie de sincronismo perverso, acontece muitas vezes um deles tocar quando estão a começar. Tanto acontece com o seu como com o de Rosalind. Se é ele que é obrigado a vestir-se e a sair do quarto à pressa - regressando talvez a praguejar à procura das chaves ou de trocos -, fá-lo deixando para trás um olhar de desejo, e percorre o caminho de casa até ao hospital - dez minutos a andar bem - com o seu fardo, os seus pensamentos de amor. Contudo, depois de passar as portas de vaivém, de percorrer o xadrez gasto do linóleo do chão das urgências, de subir no elevador até ao terceiro andar onde fica o bloco operatório, de começar a desinfectar e ouvir, de sabão na mão, as dificuldades do seu assistente, os últimos sinais de desejo abandonam-no, sem que se aperceba disso. Sem ressentimentos. É famoso pela sua velocidade, a sua taxa de sucesso e a sua lista - mais de trezentos casos por ano. Alguns correm mal, um punhado sobrevive com alguma desorientação, mas a maior parte é bem sucedida, e muitos regressam ao trabalho; trabalho - a última divisa da saúde.
E é por causa do trabalho que não pode acordá-la. Tem de estar no Supremo Tribunal às dez horas para uma audiência de urgência. O seu jornal foi impedido de dar os pormenores de uma ordem de restrição dada a outro jornal.
A parte poderosa que obteve a ordenação original conseguiu defender com êxito perante um juiz de turno que nem sequer a ordem de restrição poderia ser divulgada. Está em causa a liberdade de imprensa, e Rosalind tem de tentar obter a anulação dessa segunda ordem até ao fim do dia. Antes da audiência, a apresentação do caso ao juiz e - espera - uma primeira abordagem do caso com a outra parte nos corredores. Mais tarde informará os editores e a administração das opções que se lhes oferecem. Na noite anterior, as reuniões obrigaram-na a chegar tarde a casa, muito depois de Henry já estar a dormir sem ter jantado. Talvez tenha bebido um chá, sentada à mesa da cozinha a ler os relatórios. Talvez até tenha tido dificuldade em adormecer.
Sente-se perturbado, pouco razoável, mas continua a precisar de falar com ela e por isso mantém-se aos pés da cama, a olhar para os contornos do seu corpo sob o edredão. Está a dormir como uma criança, com os joelhos encolhidos. Sob aquela escuridão quase total, como parece pequena na imensidão da cama... Ouve a sua respiração, quase inaudível quando inspira, tranquilamente enfática quando expira. Faz um som com a língua, um estalido húmido contra o céu da boca. Apaixonou-se por ela há muitos anos, numa enfermaria de um hospital, num momento de terror. Ela nem dava pela presença dele. Era apenas uma bata branca que se aproximava da sua cama para lhe retirar os pontos do lábio superior. Só ao fim de três meses beijou aqueles lábios. Mas sabia mais sobre ela, ou pelo menos tinha visto mais dela, do que qualquer futuro amante poderia esperar saber ou ver.
Aproxima-se dela, debruça-se e beija-lhe a nuca quente. Depois afasta-se, fecha a porta do quarto devagar e desce para a cozinha para ir ligar a telefonia.
É um lugar comum da paternidade e da genética moderna que os pais têm pouca ou nenhuma influência sobre o carácter dos filhos. Nunca se sabe o que nos vai sair. Oportunidades, saúde, perspectivas, sotaque, maneiras à mesa - essas coisas talvez possamos ser nós a formar. Mas o que efectivamente determina o tipo de pessoa que irá viver connosco é qual o espermatozóide que encontra e qual o óvulo que é encontrado, como são escolhidas as cartas dos dois baralhos, e depois como são baralhadas, partidas e dadas no momento da recombinação. Alegre ou neurótico, amável ou insaciável, curioso ou lento, expansivo ou tímido, ou nem uma coisa nem outra; a quantidade de trabalho previamente feita pode ser quase uma afronta para o amor-próprio dos pais. Por outro lado, pode dar-nos uma certa liberdade. A questão torna-se mais clara assim que temos dois filhos; duas pessoas inteiramente diferentes que emergem de oportunidades de vida mais ou menos semelhantes. Na lúgubre cozinha da cave, às cinco para as quatro da manhã, sob um único foco de luz, como se estivesse no palco, está Theo Perowne, de dezoito anos, que há muito deixou para trás o ensino oficial, reclinado numa cadeira, com umas calças justas de ganga preta e umas botas de cabedal preto (compradas com o seu próprio dinheiro) cruzadas sobre a extremidade da mesa. Tão diferente da sua irmã Daisy como tudo o que é aleatório pode sê-lo. Está a beber água de um copo grande. Com a outra mão segura a revista de música que está a ler. Caído no chão está um blusão de cabedal de ombros salientes. A guitarra está no estojo, encostada a um armário. Já tem alguns autocolantes de viagens a outras cidades - Trieste, Oakland, Hamburgo, Vai d'Isère. Há espaço para mais. O som de uma estação de rádio que transmite música pop durante toda a noite sai, como um chuvisco, de uma aparelhagem estéreo na prateleira por cima de uma pequena biblioteca de livros de cozinha.
Às vezes Perowne pergunta a si próprio se alguma vez, quando era jovem, teria imaginado que seria pai de um músico de blues. O seu próprio percurso foi simples, sem dúvidas nem queixas, num contínuo deslizar, da escola para a faculdade de Medicina, daí para a persistente aquisição de experiência clínica em Londres, Southend-on-Sea, Newcastle, Serviço de Urgência de Bellevue e depois outra vez Londres. Como é que ele e Rosalind, duas pessoas tão convencionais, tão cumpridoras do dever, deram origem a um espírito tão livre? A alguém que, com uma certa ironia, se veste ao estilo boémio dos anos cinquenta, que não lê nem se deixa convencer a prosseguir os estudos, que raramente se levanta antes da hora de almoço, cuja paixão é o domínio de todos os cambiantes da tradição, Delta, Chicago, Mississippi, de algumas peculiaridades que para ele são o segredo de todos os mistérios e do sucesso da sua banda, os New Blue Rider. Tem uma versão maior da cara da mãe, dos seus olhos suaves, mas não verdes - castanho-escuros, o proverbial amendoado, com um desvio ténue e exótico. Tem o ar indulgente da mãe - e uma variante mais compacta do corpo alto e magro do pai. Também tem as suas mãos, o que é bom para o seu ramo de actividade. No mundo fechado e mexeriqueiro dos blues ingleses, Theo é considerado uma promessa, já com alguma maturidade na forma como domina a linguagem dos blues, capaz talvez de um dia acompanhar os deuses, os deuses britânicos, claro - Alexis Korner, John Mayall, Eric Clapton. Alguém escreveu algures que Theo Perowne parece um anjo a tocar.
O seu pai concorda, naturalmente, apesar das suas dúvidas sobre os limites daquele modelo. Gosta bastante de blues - aliás foi ele que os deu a conhecer a Theo, quando tinha nove anos. Depois disso foi o avô que continuou a tarefa. Mas poderão doze acordes de três cordas óbvias dar satisfação uma vida inteira? Talvez seja um daqueles casos em que um microrganismo nos dá o mundo inteiro. Como um prato de porcelana fina. Ou uma única célula. Ou, como diz Daisy, como um romance de Jane Austen. Quando o músico e o ouvinte conhecem ambos o caminho tão bem, o prazer está no desvio, na curva inesperada perante um grão de areia. Ver o mundo inteiro num grão de areia. É o mesmo que acontece, tenta Perowne convencer-se a si próprio, quando se clipa um aneurisma: absorve-se a variação de um tema imutável.
E há algo na galopante autoridade com que Theo toca que faz reviver em Henry a inexplicável atracção dessa progressão simples. Theo é daqueles guitarristas que tocam de olhos abertos, numa espécie de transe, sem mexer o corpo nem sequer olhar para as mãos. Só cede ocasionalmente a um aceno de cabeça pensativo. Quando dá um concerto, inclina às vezes a cabeça para trás para indicar aos outros que vai continuar a tocar. Comporta-se em palco como quando está a conversar - tranquilo, formal, protegendo a sua privacidade numa concha de delicadeza e simpatia. Se, por acaso, vê os pais ao fundo da sala, levanta a mão esquerda do braço da guitarra numa saudação tímida e privada. Henry e Rosalind lembram-se então do berço de cartão no ginásio da escola e do solene José de cinco anos, com uma toalha de chá enrolada à volta da cabeça e presa por uma coroa de elásticos, de mão dada com uma Maria aflita, a fazer o mesmo gesto furtivo e afectuoso quando localiza finalmente os pais na segunda fila.
Esta contenção, esta calma, adapta-se aos blues, ou à versão de blues de Theo. Quando toca um clássico como Sweet Home Chicago, com o seu ritmo indolente e ponteado - Theo disse que está a começar a ficar farto daqueles blues de sempre -, começa num registo mais baixo, com um ritmo fácil mas intenso, como uma ave de rapina insinuante, que se liberta do cansaço com o seu passo arrastado para devorar extensões de savana por desbravar. Depois começa a deslocar a mão para a parte de cima do braço da guitarra e a sua timidez começa a abandoná-lo. Um pequeno ataque sincopado, um súbito acorde mais alto, uma nota suspensa contra a maré da harmonia, uma quinta sabiamente rebaixada, uma sétima subjugada por uma série de microtons sensuais. Depois uma dissonância transitória mas cheia de alma. Tem o dom rítmico de aumentar as expectativas, uma forma própria de tocar três notas contra um padrão de duas ou quatro. Os seus solos têm o pendor, o acento rítmico do bebop. É uma forma de hipnose, de sedução sem esforço. Henry não disse a ninguém, nem sequer a Rosalind, que há momentos em que está ao fundo de um bar de West End e a música o entusiasma, e então sente, num estado de exaltação, um grande orgulho no filho - indissociável do seu prazer na música - sob a forma de um aperto no peito, quase uma dor. Tem dificuldade em respirar. No coração dos blues não há melancolia, mas uma alegria estranha e secular.
A guitarra de Theo toca-o porque contém uma censura, um resquício da insatisfação mitigada da sua própria vida, do elemento que falta. Esse sentimento surge por vezes quando o concerto acaba, quando o neurocirurgião se despede afectuosamente de Theo e dos amigos e, ao chegar à rua, decide ir a pé e reflectir. Não há nada na sua vida que contenha aquela criatividade, aquela liberdade. A música ecoa um desejo ou uma frustração não expressos, uma sensação a que ele negou livre curso em si próprio; é a vida do coração celebrada em canções. A vida tem de ter mais qualquer coisa do que salvar vidas. A disciplina e a responsabilidade de uma carreira médica, ainda maiores por ter constituído família com vinte e poucos anos - envoltas, em larga medida, por um véu de fadiga; ainda é suficientemente novo para ansiar por coisas imprevisíveis e sem constrangimentos, mas já tem idade suficiente para saber que as hipóteses estão a diminuir. Estará prestes a tornar-se um daqueles loucos dos nossos dias que, já com uma certa idade, param junto às montras para verem os saxofones ou as motas ou arranjam uma amante da idade da filha? Já comprou um carro caro.
A música de Theo desperta no coração do pai aquele fardo de arrependimento. Vendo bem, é uma questão de blues. À laia de cumprimento, Theo deixa a cadeira vir para a frente e ficar apoiada nas quatro pernas e levanta uma mão. Não faz parte do seu estilo mostrar surpresa.
- Já vais trabalhar
- Acabei de ver um avião a arder na direcção de Heathrow.
- Estás a gozar!
Henry dirige-se para a aparelhagem a fim de a sintonizar, mas Theo pega no comando pousado em cima da mesa da cozinha e acende a pequena televisão que está ao lado do microndas para momentos como aquele, em que há notícias inesperadas. Esperam pelo fim do pomposo preâmbulo do noticiário das quatro da manhã - música sintética vibrante, imagens computorizadas a formarem espirais, a irradiarem, combinados com um son et lumière à escala wagneriana, com o objectivo de sugerirem urgência, tecnologia, cobertura global. Depois o habitual pivot de queixo rectilíneo, mais ou menos da idade de Perowne, começa a anunciar as principais notícias do momento. Torna-se imediatamente óbvio que o avião a arder ainda não entrou na matriz planetária. Por enquanto continua a ser um acontecimento subjectivo não confirmado. Mesmo assim, ficam a ouvir algumas das notícias.
- Hans Blix: justificação para uma guerra? - pergunta o pivot por entre o som de gongos e imagens do ministro francês dos Negócios Estrangeiros, M. de Villepin, a ser aplaudido nas Nações Unidas. - Sim, dizem os Estados Unidos e o Reino Unido. Não, diz a maioria.
Depois os preparativos para as manifestações contra a guerra que se realizarão nesse dia em Londres e em inúmeras cidades em todo o mundo; um campeonato de ténis na Florida interrompido por uma mulher com uma faca do pão...
- Que tal um café? - pergunta, apagando a televisão.
Theo levanta-se para o ir preparar e Henry conta-lhe a história, a sua principal história do momento. Não devia ter ficado surpreendido por ter tão pouco que contar: o avião e o seu ponto de luz a atravessar o seu campo de visão, da esquerda para a direita, por detrás das árvores, por detrás da Torre dos Correios, e a desaparecer para oeste. Mas sente que viveu muito mais do que aquilo.
- Hum, mas que estavas tu a fazer à janela?
- Já te disse. Não conseguia dormir.
- Que coincidência!
- Exactamente.
Os seus olhos encontram-se, num momento de desafio potencial, e depois Theo desvia o olhar e encolhe os ombros. A sua irmã gosta de discussões em que há ideias contraditórias. Daisy e Henry têm um amor inspirado, uma dependência patética, diriam Rosalind e Theo, de um bom combate. No meio da tralha de adolescente que se encontra no seu quarto, por entre revistas de guitarra, t-shirts e meias deixadas por qualquer lado e garrafas de batidos, há livros quase por abrir sobre ovnis, um termo que hoje em dia é praticamente sinónimo de naves espaciais, possuídas e conduzidas por extraterrestres. Na opinião de Henry, Theo tem uma visão do mundo segundo a qual tudo está relacionado, ligado de uma forma interessante, e há algumas entidades, nomeadamente o governo americano, com acesso privilegiado às informações de extraterrestres, que estão a sonegar ao resto do mundo esse saber maravilhoso, como se a ciência contemporânea, monótona e aprisionada num colete de forças, não pudesse compreendê-lo. Esse conhecimento é divulgado noutros livros, nos quais Theo também não toca. A sua curiosidade, já de si superficial, ficou refém de vendedores de falsidades. Mas será que isso interessa, quando ele toca guitarra como um anjo toca um sino, quando pelo menos mantém a fé em certas formas de conhecimento maravilhoso.
Quando ainda tem tanto tempo à sua frente para mudar de ideias, se é que já formulou algumas?
É um rapaz meigo, com aquelas pestanas grandes, aqueles olhos escuros e aveludados com um subtil toque oriental; não é do tipo de pessoa que entra facilmente em discussões. Os seus olhos tornam a encontrar-se e ele desvia o olhar com os seus pensamentos intactos. O universo pode estar a dar ao seu pai um sinal de uma relação qualquer, mas ele prefere não interpretar esse sinal. Ninguém pode fazer nada em relação a isso.
Assumindo tratar-se, não de algo que sonhou acordado, mas de algo que aconteceu de facto. Henry tenta chamá-lo à razão:
- O avião deve ter-se despenhado poucos minutos depois de eu o ter visto desaparecer. Quanto tempo achas que demora a notícia a chegar às televisões?
Theo, que está encostado à bancada a filtrar o café, olha para trás por cima do ombro e passa um dedo sobre o lábio inferior, um lábio grosso de um vermelho carregado, provavelmente não muito beijado ultimamente. Correu com a última namorada da mesma maneira que lida com todas as raparigas, sem dizer nada e deixando as relações arrefecerem sem dramatismos. A etiqueta dos tempos que correm é dizer pouco, utilizar o minimalismo para os cumprimentos, as apresentações, as despedidas, até para os agradecimentos. Mas ao telefone os jovens desabrocham. Theo chega a estar três horas seguidas ao telefone.
Fala com uma voz tranquilizadora, como uma criança preocupada, com a autoridade de um cidadão, ou até mesmo de um funcionário público da era electrónica.
- Vai dar no próximo noticiário, pai. Às quatro e meia.
Tem razão. Nu por baixo do roupão, já de si um traje de velhos e de doentes, com o cabelo ralo desgrenhado pela falta de sono e a voz, habitualmente uma voz regular de barítono, aligeirada pela agitação. Henry é um candidato a que o tranquilizem. É aqui que começa o longo processo pelo qual nos tornamos filhos dos nossos filhos. Até ao dia em que talvez os ouçamos dizerem «Pai, se começares a chorar, levamos-te para casa.»
Theo senta-se e faz deslizar a caneca de café por cima da mesa até o pai lhe chegar. Não fez café para ele mesmo. Em vez disso, abre outra garrafa de meio litro de água mineral. A pureza dos jovens. Ou será que está a curar uma ressaca? Já há muito que ficou para trás o ponto em que Henry acha que pode perguntar ou até expressar uma opinião.
- Achas que foram os terroristas? - pergunta Theo.
- É possível.
Os ataques de Setembro foram a introdução de Theo nos temas internacionais, o momento em que reconheceu que havia acontecimentos para lá dos seus amigos, da sua casa e da música que afectavam a sua existência. Na altura tinha dezasseis anos, o que parecia já bastante tarde. Perowne, nascido no ano anterior à crise do Suez, demasiado novo para os mísseis de Cuba, a construção do Muro de Berlim ou o assassinato de Kennedy, lembrava-se de ter chorado por causa de Aberfan em 1966 - cento e dezasseis crianças como ele, que tinham acabado de rezar todas juntas na escola, no último dia antes das férias, ficaram sepultadas por um mar de lama. Foi a primeira vez que desconfiou que o Deus bom e amigo das crianças enaltecido pela directora da sua escola talvez não existisse. Afinal, o mesmo viria a ser sugerido no futuro por outros grandes acontecimentos mundiais. Contudo, para a geração de Theo, sinceramente desprovida de Deus, a questão nem chegou a pôr-se. Nunca ninguém na sua escola brilhante, de portas envidraçadas, com ar futurista, lhe pediu que rezasse ou cantasse um incompreensível hino de louvor. A sua iniciação, à frente do televisor, vendo as torres desmoronarem-se, foi intensa, mas ele adaptou-se rapidamente.
Hoje em dia passa os olhos pelos jornais à procura de desenvolvimentos como se visse a lista dos programas de televisão. Desde que não haja nada de novo, a sua mente está livre. O terrorismo internacional, os cordões de segurança, os preparativos para a guerra - essas coisas representam a normalidade, são como o estado do tempo. No momento em que emerge para uma consciência de adulto, é este o mundo que encontra.
Essas coisas não podem perturbá-lo da mesma forma que perturbam o seu pai, que lê os mesmos jornais que ele, mas com uma fixação mórbida. Apesar da concentração de tropas no Golfo, dos tanques em Heathrow na quinta-feira, do ataque à mesquita de Finsbury Park, das notícias sobre células terroristas por todo o país e da promessa de Bin Laden feita em vídeo de «ataques de mártires» a Londres, Perowne alimentou durante algum tempo a ideia de que tudo aquilo era uma aberração, de que o mundo iria certamente acalmar-se e em breve seria diferente, de que seria possível encontrar soluções, de que a razão, sendo uma arma poderosa, seria irresistível, seria a única saída; ou de que, à semelhança de qualquer outra crise, também esta desapareceria em breve, abrindo caminho à seguinte, tal como acontecera nas Falklands, na Bósnia, no Biafra e em Chernobyl. Mas ultimamente esta atitude parece-lhe optimista. Contrariando a sua tendência, está a adaptar-se, como os doentes acabam por fazer com a perda súbita de visão ou a imobilização dos membros. Não há retrocesso. Os anos noventa parecem uma década inocente, e quem o pensaria na altura? Hoje em dia o ar que se respira é diferente. Comprou o livro de Fred Halliday e o que leu nas primeiras páginas pareceu-Lhe ao mesmo tempo uma conclusão e uma maldição: os ataques a Nova Iorque precipitaram uma crise global que, com sorte, demorará cem anos a ser ultrapassada. Com sorte. A vida de Henry, a de Theo e a de Daisy. E também dos filhos deles. Uma guerra dos cem anos.
Com a sua pouca experiência, Theo fez café triplamente forte. Apesar de tudo, pai até ao fim, Henry bebe-o. Agora de certeza que o seu dia começou.
- Não viste de que companhia era? - pergunta Theo.
- Não. Ia muito longe, e estava muito escuro.
- É que o Chás chega hoje de Nova Iorque.
É o novo saxofonista dos New Blue Rider, um rapaz enorme e brilhante de St. Kitts, que foi a Nova Iorque fazer uma semana de aulas de mestrado, teoricamente sob a orientação de Branford Marsalis. Estes miúdos têm instinto, o sentido de prerrogativa próprio de uma elite. Ry Cooder ouviu Theo tocar slide guitar em Oakland. Theo tem no seu quarto, presa a um espelho com fita gomada, uma base para copo com uma saudação amigável do mestre. Se virmos de perto, conseguimos ver escrito com uma esferográfica azul já a falhar, por baixo de uma mancha de cerveja, uma assinatura e «Continua em frente, miúdo!»
- No teu lugar não me preocupava. Os dorminhocos não começam a chegar antes das cinco e meia.
- Pois é. - Theo bebe mais um golo da garrafa de água. - Achas que foram os da Jlhad...?
Perowne sente-se tonto, mas a sensação não é desagradável. Tudo aquilo para que olha, incluindo a cara do filho, se afasta dele, mas sem ficar mais pequeno. Nunca tinha ouvido Theo utilizar aquela palavra. Será a palavra certa? Parece inofensiva, até bizarra, dita com a sua ligeira voz de tenor. Nos lábios de Theo - dá-se ao trabalho de dizer o «j» de uma maneira especial -, a palavra árabe parece tão inócua como um instrumento de cordas marroquino que a banda pudesse adoptar e electrificar. No estado islâmico ideal, sob a estrita lei da Shari'a, haverá lugar para cirurgiões. Para os guitarristas de blues haverá que arranjar outros empregos. Mas talvez ninguém exija tal estado. Ninguém exige nada. Só se vê o ódio, a pureza do niilismo. Um habitante de Londres podia até sentir alguma nostalgia do IRA. Mesmo no momento em que as nossas pernas se separavam do resto do nosso corpo, podíamos dar-nos ao trabalho de nos lembrar que a causa era a unificação da Irlanda. Agora, segundo o Reverendo lan Pasley, isso vai acontecer de qualquer maneira, pela determinação dos limites do território. Mais uma crise que vai desaparecer dos manuais ao fim de apenas trinta anos. Mas não é exactamente isso. Os islamistas radicais não são niilistas - querem ter a sociedade perfeita na Terra, que é o Islão. Pertencem a uma tradição condenada, em relação à qual Perowne segue a opinião convencional - a busca de uma utopia acaba por permitir todos os excessos, os meios mais cruéis de a obter. Se toda a gente acabará de certeza por ser feliz para sempre, onde está o crime em matar agora um ou dois milhões de pessoas?
- Não sei o que hei-de pensar - diz Henry. - É demasiado tarde para pensar. Mais vale esperarmos pelas notícias.
Theo parece aliviado. Com a sua maneira de ser prestável, está disposto a discutir tudo o que o pai quiser, se for preciso. Mas às quatro e vinte da manhã sabe-lhe melhor não ter de dizer quase nada. Assim, esperam vários minutos em silêncio, mas sem tensão. Nos últimos meses sentaram-se muitas vezes àquela mesa e abordaram todas as questões. Nunca tinham falado tanto. Onde está a raiva de adolescente, o bater de portas, a fúria muda que supostamente seria o rito de passagem de Theo? Terá tudo isso ficado submerso nos blues? Claro que falaram do Iraque, da América e do poder, da desconfiança europeia, do Islão - do seu sofrimento e pena de si mesmo, de Israel, da Palestina, dos ditadores, da democracia - e depois de coisas de rapazes: armas de destruição em massa, ogivas nucleares, fotografia por satélite, lasers, nanotecnologia. À mesa da cozinha, é este o menu do princípio do século XXI, os seus pratos do dia. Num domingo à noite, há não muito tempo, Theo veio com um aforismo: quanto maior é a escala em que pensamos, mais horrível é. Instado a explicar-se, disse: «Quando pensamos nos grandes temas, na situação política, no aquecimento global, na pobreza no mundo, é tudo terrível, nada melhora, não há nada a esperar. Mas quando pensamos em coisas mais pequenas, mais próximas de nós, como por exemplo uma rapariga que acabei de conhecer ou a canção que vamos tocar com o Chás ou em ir fazer snowboard no mês que vem, é tudo óptimo. Por isso, o meu lema vai ser 'pensa em coisas pequenas'.»
Recordando esta conversa, agora que faltam poucos minutos para as notícias, Henry pergunta:
- Que tal correu o concerto?
- Tocámos coisas básicas, para abanar o capacete, quase tudo do Jimmy Reed. Sabes, como aquela... - Canta, com um ênfase irónico, um boogie tocado com o baixo, com a mão esquerda a fechar-se e a abrir-se, como se estivesse inconscientemente a prender as cordas. - Adoraram. Não nos deixaram tocar mais nada. Por acaso foi um bocado deprimente, porque não é nada daquilo que nós queremos. - Mesmo assim, a recordação leva-o a fazer um sorriso rasgado.
Está na hora do noticiário. Mais uma vez, os impulsos de rádio, os sinais do sintetizador, o pivot sem sono e o seu maxilar a inspirar confiança. E lá está, finalmente real, o avião, inclinado sobre a pista, aparentemente intacto, rodeado de bombeiros ainda a espalharem espuma, soldados, polícias, luzes intermitentes e ambulâncias a postos. Antes da notícia, o elogio irrelevante à rápida resposta dos serviços de emergência. Só depois vem a explicação. É um avião de carga, um Tupolev russo em viagem de Riga para Birmingham. Quando já ia a leste de Londres, um dos motores começou a arder. A tripulação pediu autorização para aterrar e tentou interromper o abastecimento de combustível ao motor em chamas.
Viraram para oeste, ao longo do Tamisa, e foram guiados até Heathrow, onde aterraram bem. Os dois tripulantes saíram ilesos. A carga não foi especificada, mas uma parte - supostamente correio - ficou destruída. Depois, em segundo lugar, as manifestações contra a guerra a realizar dentro de poucas horas. Em terceiro lugar, Hans Blix, a figura do dia anterior.
Afinal o gato morto de Schrodinger está vivo.
Theo apanha o blusão do chão e levanta-se. Faz um trejeito.
- Afinal não foi um ataque ao nosso modo de vida.
- Um bom desfecho - concorda Henry. Apetece-lhe abraçar o filho, não só de alívio, mas por
ver como Theo se tornou um adulto adorável. O segredo foi deixar de estudar, fazer o que os pais não tiveram coragem para fazer, abandonar a escola e tomar conta da sua vida. Mas hoje em dia ele e Theo têm de estar separados pelo menos uma semana para se permitirem dar um abraço. Sempre fora uma criança que gostava do contacto físico. Aos treze anos, às vezes ainda dava a mão ao pai na rua. Mas isso ficou definitivamente para trás. Só Daisy lhe dá a hipótese de se despedir dela com um beijo à noite quando está em casa.
Quando Theo atravessa a cozinha, o pai pergunta-lhe:
- Então, vais à manifestação?
- Mais ou menos. Em espírito. Tenho de acabar uma canção.
- Dorme bem - diz Henry.
- Está bem. Tu também.
Ao sair, Theo diz-lhe «Então, boa noite» e, alguns segundos depois, quando já vai a subir a escada, diz «Até amanhã» e do cimo das escadas, com alguma hesitação e num tom de pergunta, «Boa noite?» Henry responde sempre e fica à espera de tornar a ouvi-lo. São as características diminuições de som de Theo, as três ou quatro ou até cinco investidas com que se despede, a superstição de que tem de ser ele a ter a última palavra. A mão dada a soltar-se lentamente.
Perowne tem a teoria de que o café pode ter um efeito paradoxal, e é isso que lhe parece pelos passos pesados com que anda pela cozinha a apagar as luzes; parece carregar não só o peso daquela noite interrompida, mas de toda a semana e das semanas antes daquela. Sente os joelhos e os quadríceps frágeis ao subir a escada, agarrado ao corrimão. Será assim quando tiver setenta anos. Atravessa o corredor, acalmado pelo contacto frio das lajes lisas sob os pés descalços. A caminho da escadaria principal, pára junto às duas portas de entrada. Dão directamente para o passeio, para a rua que vai até à praça, e o seu cansaço faz que subitamente se agigantem perante ele de uma forma estranha com todos os extras - três sólidas fechaduras Banham, duas trancas de ferro tão antigas como a casa, duas correntes de segurança de aço temperado, um ralo com uma tampa de latão, a caixa electrónica do sistema Entryphone, o botão vermelho para qualquer caso de emergência, o quadro do sistema de alarme com os seus dígitos com um brilho suave. Defesas, a fortaleza moderna: cuidado com os pobres da cidade, os drogados, os pura e simplesmente maus.
De novo na escuridão, de pé do seu lado da cama, deixa o roupão cair-lhe aos pés e tacteia às cegas o caminho por entre a roupa até junto da mulher. Está voltada sobre o lado esquerdo, de costas para ele, com os joelhos dobrados. Ele aninha-se na sua forma familiar, põe o braço sobre a cintura dela e chega-se mais a ela. Beija-lhe a nuca, e ela fala das profundezas do seu sono - o tom é acolhedor, grato, mas a sua única palavra indistinta não consegue soltar-se da sua língua, como se fosse demasiado pesada para ser levantada. Sente o calor do seu corpo através do pijama de seda, que lhe toca no tronco e nas virilhas. Ter subido aqueles três lanços de escadas reanimou-o, tem os olhos completamente abertos no escuro; o esforço, o aumento mínimo da sua pressão arterial está a provocar-lhe uma excitação local na retina, fazendo vários enxames espectrais vermelhos e de um verde iridescente vaguear pela sua visão de uma estepe infinita e depois enrolar-se sobre si próprios e transformar-se em peças de tecido, faixas de veludo grosso a serem recolhidas como panos de teatro que se abrem sobre uma nova cena, sobre novos pensamentos. Henry não quer pensar, mas está desperto. O seu dia sem trabalhar abre-se à sua frente, como um caminho na estepe; depois do jogo de squash, já perdido por causa da insónia, tem de ir visitar a mãe. O seu rosto, como ele é agora, escapa-lhe. Em vez disso vê a campeã local de natação de há quarenta anos - de quem se lembra por a ter visto em fotografias - com a touca de borracha às flores que lhe dava um ar de foca impaciente. Tinha orgulho nela, mesmo quando ela lhe atormentava a infância, arrastando-o em noites de Inverno para ruidosas piscinas municipais, onde no chão de cimento dos vestiários os pensos rápidos com manchas rosadas e encarniçadas marinavam em poças de água morna. Obrigava-o a entrar com ela em sinistros lagos verdes e nas águas cinzentas do mar do Norte antes da época. Era outro elemento, costumava ela dizer, à laia de explicação ou sedução. Um outro elemento era precisamente aquilo em que ele se opunha a mergulhar o seu corpo franzino e sardento. A divisão entre os elementos era o que mais lhe custava, a superfície hostil a marcar um corte doloroso na sua barriga arrepiada, corte esse que ia subindo à medida que ele avançava em bicos de pés, para lhe agradar, nas águas obscuras da costa do Essex no princípio de Junho. Nunca conseguira atirar-se, como ela se atirava, como queria que ele se atirasse. A submersão num outro elemento, todos os dias, fazendo de cada dia um dia especial, era o que ela queria e achava que ele devia fazer. Agora isso já não lhe custava, desde que o outro elemento não fosse água fria.
Sente o ar do quarto fresco nas narinas e sente uma certa excitação sexual ao chegar-se mais para Rosalind. Ouve os primeiros sons do tráfego incessante em Euston Road, como uma brisa a soprar por entre uma floresta de abetos. São pessoas que têm de estar no trabalho às seis da manhã de sábado. Pensar nisso não o faz sentir sono, como às vezes lhe acontece. Está a pensar em sexo. Se o mundo estivesse absolutamente sintonizado com as suas necessidades, naquele momento estaria a fazer amor com Rosalind, sem preliminares, com uma Rosalind cheia de desejo, e depois a entregar-se, de cabeça limpa, a um abandono que o levaria ao sono. Mas nem os reis despóticos, nem os deuses antigos podiam sonhar sempre com um mundo à sua conveniência. Só as crianças, ou melhor, só os bebés é que sentem um desejo e a sua satisfação ao mesmo tempo; talvez seja isso que dá aos tiranos o seu ar infantil. Querem voltar atrás para terem o que não podem ter. Quando se lhes depara uma frustração, a birra de matar uns quantos homens nunca está muito longe. Saddam, por exemplo, não parece apenas um homem grosseiro, com uma papada. Dá a impressão de ser um rapaz grande e desiludido, com um ar de cão atarracado e uns olhos escuros, algo incrédulos pelo que ainda não conseguiu ordenar. O poder absoluto e os seus prazeres estão à mão de semear e insistem em escapar-lhe. Tem consciência de que mandar mais um general adulador para as câmaras de tortura ou meter mais uma bala na cabeça de um familiar não vão dar-lhe a satisfação que outrora davam.
Perowne muda de posição e encosta o nariz à cabeça de Rosalind, inalando o cheiro suave do sabão perfumado misturado com o odor da pele quente e do cabelo lavado com champô. Que sorte a mulher que ama ser aquela com quem está casado. Mas com que rapidez passou do erotismo para Saddam - que faz parte de uma mescla de maus pressentimentos e preocupações, de um cozinhado com muitos ingredientes. Quem não dorme de madrugada faz um ninho com os seus próprios medos. Imaginar acontecimentos assustadores e esquemas para lhes escapar deve oferecer vantagens do ponto de vista da sobrevivência. Este truque dos pensamentos negros é um legado da selecção natural num mundo perigoso. Na última hora esteve num estado de profunda insensatez, numa loucura de excesso de interpretação. Não o consola pensar que qualquer pessoa que estivesse à janela em vez dele poderia ter chegado às mesmas conclusões. A incompreensão está generalizada a todo o mundo. Como podemos confiar em nós próprios? Vê agora os pormenores que ignorou quase por completo para alimentar os seus medos: o avião não se dirigia para nenhum edifício público, fazia uma descida regular e controlada, seguia por uma rota habitual - mas nada disto se ajustava ao mal-estar geral. Repetiu para si próprio que só havia dois desfechos possíveis: ou o gato estava vivo ou morto. Não era portanto nenhum ataque ao nosso modo de vida.
Meio consciente da presença dele, Rosalind muda de posição, roda levemente os ombros para ficar com as costas bem aninhadas no peito dele. Desliza o pé sobre o seu calcanhar e pousa a planta do pé sobre os seus dedos. Ainda mais excitado. Henry sente a sua erecção presa contra o fundo das costas dela e procura libertar-se com a mão. A respiração de Rosalind readquire o seu ritmo regular. Henry fica imóvel, à espera que o sono chegue. Pelos padrões actuais, ou melhor, por quaisquer padrões, é quase perverso ele nunca se fartar de fazer amor com Rosalind, nem nunca se ter sentido verdadeiramente tentado pelas oportunidades que lhe surgiram graças à lógica generosa da hierarquia médica. Quando pensa em sexo, pensa nela. Os seus olhos, os seus seios, a sua língua, a sua disponibilidade. Quem mais poderia fazer amor com ele com tanta sabedoria, com tanta ternura, com um humor tão traquina ou com a bagagem de um passado tão rico com ele?
Não bastaria uma vida para encontrar outra mulher com quem pudesse aprender a ser tão livre, a quem conseguisse dar prazer com tanto abandono e perícia. Por um qualquer traço de carácter, a familiaridade excita-o mais que a novidade sexual. Acha que deve ser uma espécie de entorpecimento, de deficiência ou de timidez que existe em si. Muitos dos seus amigos têm aventuras com mulheres mais novas e, de vez em quando, um casamento sólido explode num fogo cruzado de recriminações. Perowne assiste a esses casos com desconforto, temendo que lhe falte um qualquer elemento de força vital masculina, um desejo audacioso e saudável de novas experiências. Onde está a sua curiosidade? Que haverá de errado com ele? Mas não pode fazer nada. Quando detecta um olhar ocasional de interrogação de uma mulher atraente, reage com um sorriso brando e inexpressivo. É uma fidelidade que pode parecer virtude ou perseverança, mas que não é uma coisa nem outra, pois não tem de fazer escolha alguma. É isto que lhe está destinado: sentido de posse, sentido de pertença, repetição.
Foi uma calamidade - seguramente um ataque ao modo de vida dela - que trouxe Rosalind para a sua vida. A primeira vez que a vira fora de costas, quando estava na enfermaria de mulheres do serviço de neurologia num fim de tarde de Agosto. Uma cabeleira ruiva tão abundante - quase até à cintura - era surpreendente numa mulher tão pequena. Por momentos pensou que fosse uma criança grande. Estava sentada na beira da cama, ainda vestida, a falar com um médico, com a voz tensa de quem procura esconder o terror que sente. Perowne ainda ouviu uma parte da história quando parou junto deles e se informou do resto pelo processo dela. O seu estado de saúde era geralmente bom, mas no último ano tinha tido dores de cabeça de vez em quando. Tocou na cabeça para mostrar onde. Reparou que as suas mãos eram muito pequenas. O seu rosto era perfeitamente oval e os olhos grandes, de um verde pálido. Faltara-lhe o período algumas vezes e tinha um corrimento ocasional nos seios. Nessa tarde, quando estava na biblioteca do departamento de Direito do University College, a ler textos sobre delitos de natureza civil - fora específica quanto a isso -, a sua vista tinha começado, segundo ela disse, a vacilar. Ao fim de poucos minutos já não conseguia ver os números no relógio de pulso. Deixou os livros, pegou na mala e desceu a escada, agarrando-se com força ao corrimão. Ia a tentar desbravar o caminho até às urgências quando o dia começou a escurecer. Pensou que era um eclipse e achou estranho ninguém estar a olhar para o céu. O serviço de urgência tinha-a mandado imediatamente para ali, e agora já quase não conseguia ver as riscas da camisa do médico. Quando ele levantou a mão não conseguiu contar os dedos.
- Não quero ficar cega - disse baixinho, numa voz chocada. - Por favor, não me deixe ficar cega.
Como era possível que uns olhos tão grandes e tão límpidos perdessem a visão? Quando pediram a Henry que fosse chamar o especialista, que ninguém conseguia contactar pelo pager, sentiu-se excluído, o que lhe provocou uma certa angústia pouco profissional, e também uma sensação de que não podia correr o risco de deixar o médico - do tipo falinhas mansas - sozinho com um ser tão raro. Queria ser ele, Perowne, a fazer tudo para a salvar, apesar de ter apenas uma ideia muito embrionária de qual poderia ser o problema.
O especialista, Dr. Whaley, estava numa reunião importante. Era um homem de grande estatura, desajeitado, com um fato às riscas, com colete, um relógio de corrente e um lenço de seda vermelho a espreitar do bolso de cima. Perowne já vira muitas vezes ao longe aquela cabeça peculiar a reluzir nos corredores sombrios. A sua voz tonitruante era muito parodiada pelos médicos mais novos. Perowne pediu à secretária que entrasse e o interrompesse. Enquanto esperava, ensaiara mentalmente uma apresentação sucinta, desejoso de impressionar aquela personagem ilustre. Whiley saiu da sala e ouviu, com um olhar carrancudo, a descrição de Perowne das dores de cabeça de uma jovem de dezanove anos, da sua súbita incapacidade visual e da sua história de amenorreia e galactorreia.
- Por amor de Deus, rapaz. Ciclos menstruais irregulares e corrimento dos mamilos! - Pronunciara esta frase com a voz entrecortada de um locutor em tempo de guerra, ao mesmo tempo que percorria rapidamente o corredor, com o casaco debaixo do braço.
Trouxeram-lhe uma cadeira para se sentar de frente para a doente. Ao observar-lhe os olhos, a sua respiração acalmou. Perowne admirou o rosto pálido, belo e inteligente inclinado para cima, voltado para o especialista. Teria dado tudo para que ela o escutasse assim a ele. Desprovida de pistas visuais, tinha de confiar apenas nas nuances da voz de Whaley. O diagnóstico fora rápido.
- Bem, bem, jovem. Parece que tem um tumor na glândula pituitária, que é um órgão do tamanho de uma ervilha no centro do cérebro. Há uma hemorragia à volta do tumor que está a pressionar os nervos ópticos.
Por detrás da cabeça do especialista havia uma janela alta, e Rosalind deve ter conseguido distinguir o seu vulto, pois os seus olhos pareciam perscrutar o rosto do médico. Ficou vários segundos em silêncio e depois disse num tom de dúvida:
- Posso ficar cega.
- Não se atacarmos já.
Rosalind acenou com a cabeça em sinal de assentimento. Whaley deu instruções ao médico de que pedisse uma TAC para confirmar o diagnóstico antes de Rosalind ir para o bloco operatório. Depois inclinou-se para a frente e, com uma voz suave, quase terna, explicou-lhe que o tumor estava a produzir prolactina, uma hormona associada à gravidez, que estava a provocar as alterações dos ciclos menstruais e o aparecimento de leite nos seios. Tranquilizou-a, dizendo que o tumor era de certeza benigno e que estava convencido de que ela iria recuperar completamente. Tudo dependia de a acção deles ser rápida. Depois de um exame superficial aos seios para confirmar o diagnóstico - o ângulo de visão de Henry estava obstruído -, o Dr. Whaley pôs-se de pé e foi com um tom de voz alto, como se falasse em público, que foi dando instruções. Depois saiu, para ir reorganizar a sua tarde.
Henry acompanhou-a desde o serviço de radiologia até ao bloco operatório. Rosalind estava deitada na maca, muito angustiada. Ele estava naquele hospital apenas há quatro meses, e nem sequer conseguia fingir saber muito sobre a intervenção que ia ser feita. Ficou junto dela no corredor, à espera que chegasse o anestesista. Enquanto conversavam para ajudar a passar o tempo, ficou a saber que ela andava em Direito e não tinha quaisquer familiares por perto. O pai estava em França e a mãe já morrera. Tinha uma tia, de quem gostava muito, mas que vivia na Escócia, nas ilhas ocidentais. Rosalind tinha lágrimas nos olhos e debatia-se com emoções muito fortes. Quando conseguiu controlar a voz, apontou para um extintor de incêndios e disse-lhe que, como podia ser a última vez que via a cor vermelha, queria fixá-la. Pediu-Lhe que empurrasse a maca para mais perto do extintor. Já mal conseguia vê-lo. Henry disse-lhe que a operação seria, sem dúvida, bem sucedida. Mas claro que não sabia nada e, enquanto empurrava a maca, sentira a boca seca e os joelhos a tremer. Tinha de aprender a distanciar-se dos doentes. Pode ter sido naquele momento, e não mais tarde, na enfermaria, que começou a ficar apaixonado. As portas de vaivém abriram-se e eles entraram juntos na sala de operações, ele ao lado da maca que o maqueiro empurrava e ela a morder o lenço que tinha na mão e a olhar fixamente para o tecto, como se não pudesse desperdiçar os últimos pormenores.
A sua visão deteriorara-se repentinamente, na biblioteca, e agora estava sozinha e confrontada com grandes alterações. Acalmou-se respirando fundo várias vezes. Concentrou-se no rosto do anestesista enquanto ele lhe introduzia um cateter nas costas da mão e lhe administrava tiopentone. Depois adormeceu, e Perowne passou rapidamente à sala de desinfecção. Tinham-lhe dito que observasse atentamente aquela intervenção tão específica. Hipofisectomia transfenoidal. Um dia seria ele próprio a fazê-la. Mesmo agora, passados tantos anos, ainda tinha uma sensação de calma ao pensar como ela fora corajosa. E como as suas vidas tinham sido delineadas por aquela catástrofe de forma tão benigna.
Que mais fez o jovem Henry Perowne para ajudar aquela bela mulher com uma apoplexia da pituitária a recuperar a visão? Ajudou a mudar o seu corpo anestesiado da maca para a mesa de operações. Seguindo as instruções do médico, colocou os campos esterilizados sobre a doente, prendendo-os nos apoios dos pantoffs. Viu as três pontas de aço da fixação da cabeça serem ajustadas à cabeça de Rosalind. Guiado mais uma vez pelo médico, enquanto Whaley saiu da sala por um momento, limpou a boca de Rosalind com sabão anti-séptico e reparou na perfeição dos seus dentes. Mais tarde, depois de Whaley ter feito uma incisão na sua gengiva superior, de ter exposto as fossas nasais e ter limpo a mucosa nasal do septo. Henry ajudou a colocar em posição o enorme microscópio cirúrgico. Não havia monitor - a tecnologia de vídeo ainda era relativamente recente naquele tempo e ainda não fora instalada naquela sala. Henry viu Whaley avançar para o seio esfenóide, afastando a parede frontal. Depois dissecou cuidadosamente a base óssea da fossa pituitária, pondo a descoberto em menos de quarenta e cinco minutos a glândula vermelha e inchada no seu interior.
Perowne estudou atentamente o corte decisivo do bisturi cirúrgico e viu a massa escura e ocre do tumor, com a consistência de uma papa, desaparecer na ponta do aspirador manuseado por Whaley. Quando um líquido claro apareceu subitamente - fluido cerebrospinal -, o cirurgião decidiu retirar um pouco de gordura abdominal para fechar o leak. Fez uma pequena incisão transversal na parte inferior do abdómen de Rosalind e, com duas tesouras cirúrgicas, retirou um pouco de gordura subcutânea que colocou numa ebonite. O enxerto foi passado através do nariz com movimentos muito delicados, colocado no que restava do seio esfenóide e preso com packs nasais. A elegância de todo o procedimento parecia conter uma contradição brilhante: a solução era tão fácil como um trabalho de canalização, tão elementar como desentupir um cano - os nervos ópticos foram descomprimidos e a ameaça à visão de Rosalind desapareceu. No entanto, a abertura de uma via segura até àquela região remota e escondida da cabeça era uma obra de perícia técnica e de concentração. Entrar pelo rosto, retirar o tumor pelo nariz, trazer a doente de novo à vida, sem dor ou infecção, com a visão restabelecida, era um milagre do engenho humano. Aquele procedimento tinha atrás de si quase um século de insucessos e de sucessos parciais, de outras vias experimentadas e abandonadas e décadas de novas invenções, incluindo aquele microscópio e a iluminação de fibra óptica. Era um procedimento humano e ousado - o espírito da benevolência inspirado pela ousadia de um número de circo no arame. Até àquele momento, a intenção de Perowne de vir a ser neurocirurgião sempre fora um pouco teórica. Escolhera o cérebro porque ele era mais importante que a bexiga ou a articulação do joelho. Mas agora a sua ambição transformara-se num desejo profundo. Quando começou a sutura, e aquele rosto, aquele rosto particularmente belo, foi reconstruído sem uma única marca a desfigurá-lo. Henry sentiu uma enorme excitação em relação ao seu futuro e uma grande impaciência por aprender as técnicas necessárias. Estava a apaixonar-se por uma vida.
Claro que estava também a apaixonar-se. Eram duas coisas inseparáveis. No meio de tanto entusiasmo, sobrava-lhe ainda algum amor pelo mestre, o Dr. Whaley, pela sua figura enorme debruçada sobre as suas tarefas minuciosas e precisas, a respirar ruidosamente pelas narinas tapadas pela máscara. Mal se certificou de que tinha extraído o tumor e o coágulo, saiu da sala para ir ver outro doente. Deixou ao cuidado do médico o trabalho de reconstruir as belas feições de Rosalind.
Seria impróprio Henry tentar posicionar-se na sala do recobro para ser a primeira pessoa que Rosalind veria quando acordasse? Estaria de facto convencido de que, com as suas faculdades e o seu humor aninhados no colo suave da morfina, ela ia reparar nele e ficar encantada? Mas o anestesista e a sua equipa acabaram por afastar Perowne, dizendo-lhe que talvez fosse preciso noutro sítio. No entanto, ele fora-se deixando ficar e estava por detrás dela, a pouco mais de um metro da sua cabeça, quando ela começou a mexer-se. Conseguiu, pelo menos, ver os seus olhos abertos e o seu rosto imóvel, enquanto tentava recordar o seu lugar na história da sua existência e o seu sorriso cauteloso e dorido quando começou a aperceber-se de que estava a recuperar a visão. Ainda não era perfeita, mas sê-lo-ia dentro de poucas horas.
Alguns dias depois conseguiu ser verdadeiramente útil, quando lhe tirou os pontos do lábio superior e ajudou a tirar o packing nasal. Quando acabava o seu turno, deixava-se ficar para poder conversar com ela. Tinha a aparência de uma pessoa isolada, com uma cor pálida por tudo o que tinha passado, encostada às almofadas, rodeada por gordos manuais de Direito e com o cabelo em duas enormes tranças, que lhe davam um ar de menina da escola. As suas únicas visitas eram as duas atenciosas raparigas com quem partilhava o apartamento. Como lhe custava falar, tinha de beber água por uma palhinha, entre as frases. Contou-lhe que a mãe morrera num acidente de automóvel três anos antes, tinha ela dezasseis anos, e que o pai era o famoso poeta John Grammaticus, que vivia numa espécie de retiro num castelo perto dos Pirenéus. Para avivar a memória de Henry, Rosalind mencionara «Monte Fuji», o poema que vinha em todas as antologias escolares. Mas não se importou muito por ele nunca ter ouvido falar nem do poema nem do autor. Também não se importou por os antecedentes de Henry serem menos exóticos - uma rua imutável dos arredores de Perivale e filho único de um pai de quem não se lembrava.
Quando finalmente o seu caso de amor começou, alguns meses depois, já passava da meia-noite, no camarote de um ferry para Bilbau, numa noite ventosa de Inverno, ela brincou com ele pela sua «longa e brilhante campanha de sedução». Disse-lhe também que fora uma obra-prima de dissimulação. Mas o ritmo e a forma eram definidos por ela. Desde muito cedo que Henry se apercebeu de como seria fácil ela afastar-se. O seu isolamento não se limitava à enfermaria. Estava sempre presente, era uma cautela que coarctava a espontaneidade, que baixava o nível de excitação. Mantinha uma espécie de tampa sobre a sua juventude. Podia ficar entusiasmada por uma proposta súbita de um piquenique, pela chegada não anunciada de uma velha amiga, por dois bilhetes grátis para o teatro nessa mesma noite. Podia até acabar por dizer que sim às três coisas, mas a primeira reacção era sempre um retraimento, um franzir de sobrancelhas escondido. Naquele tempo sentia-se mais segura com os seus livros de Direito, no muito estudado e há muito encerrado caso de Donoghue versus Stevenson. Essa falta de confiança na vida estender-se-ia infalivelmente a ele se desse qualquer passo em falso. Além disso estavam em causa duas mulheres, e para merecer a confiança da filha teria de conhecer e de gostar de tudo na mãe dela. Também teria de cortejar esse fantasma.
Marianne Grammaticus era menos chorada que constantemente referida. Era uma presença que refreava constantemente a sua filha, que não só a vigiava, mas também estava ao lado dela a vigiar os outros. Era esse o segredo da natureza íntima e da circunspecção de Rosalind. A sua morte fora uma coisa de tal modo sem sentido que era difícil acreditar que tivesse acontecido - um condutor embriagado que passara um sinal vermelho perto de Victoria Station a altas horas da noite - e, passados três anos, Rosalind continuava de certa forma a não a aceitar. Mantinha um contacto silencioso com uma amiga íntima imaginária. Tudo servia para fazer uma referência à mãe, a quem sempre tratara pelo primeiro nome, mesmo em criança. Falava muito dela a Henry, muitas vezes mencionando-a de passagem e fantasiando sobre as suas reacções. Marianne teria adorado, poderia por exemplo Rosalind dizer de um filme que acabavam de ver e de que tinham gostado. Ou então que fora Marianne que a ensinara a fazer uma certa sopa de cebola, que nunca ficava tão boa como a dela. Ou então, referindo-se à invasão das ilhas Falkland: o mais engraçado é que ela não teria sido contra a invasão. Ela odiava Galtieri. Quando já eram amigos há algumas semanas - uma amizade afectuosa, fisicamente reprimida, de facto não era mais do que isso -, Henry atreveu-se a perguntar a Rosalind qual teria sido a opinião da sua mãe sobre ele. Ela respondeu sem hesitar: «Ter-te-ia adorado.» Ele atribuiu grande significado a isso e nessa noite beijou-a com uma liberdade que não era habitual. Ela correspondeu o suficiente, mas sem se abandonar, e durante quase uma semana esteve todas as noites demasiado ocupada para poder encontrar-se com ele. A solidão e o trabalho eram menos ameaçadores para o seu mundo interior do que os beijos. Henry começou a perceber que estava numa competição. Dada a natureza das coisas, era infalível que ganhasse, mas teria de avançar ao ritmo antiquado de um lémure preguiçoso.
No oscilante camarote do ferry, a questão foi finalmente consumada num beliche estreito. Não foi fácil para Rosalind. Para o amar, tinha de começar a abrir mão da sua amiga sempre presente, da sua mãe. De manhã, quando acordou e se lembrou da linha que ultrapassara, chorou - tanto de alegria como de tristeza, repetiu diversas vezes, sem conseguir convencê-lo. A felicidade parecia uma traição aos princípios, mas ao mesmo tempo era inevitável.
Foram para a coberta ver o nascer do dia sobre o porto. Era um mundo duro e estranho. As bátegas de água fustigavam os prédios baixos de cimento e eram empurradas contra as gruas cinzentas por um vento agreste que gemia por entre os cabos de aço. Na doca, onde se tinham formado várias poças de água, via-se a figura solitária de um idoso a tentar pôr uma pesada corda sobre um pegão. Usava um blusão de cabedal sobre uma camisa com alguns botões desabotoados. Na boca tinha um cigarro apagado. Quando acabou dirigiu-se lentamente para o barracão da alfândega, imune ao tempo. Henry e Rosalind fugiram ao frio e desceram as muitas escadas até às profundezas pegajosas do navio, tornaram a fazer amor no beliche estreito, deixando-se depois ficar imóveis a ouvir nos altifalantes do navio o anúncio de que os passageiros sem carro deviam desembarcar imediatamente. Ela tornou a chorar e disse-lhe que ultimamente deixara de conseguir ouvir a tonalidade especial da voz da mãe. Seria uma longa despedida. A sua sombra estaria presente em muitos momentos bons como aquele. Naquele dia, quando estavam deitados com os braços à volta um do outro a ouvir o andar apressado e os chamamentos abafados dos passageiros nos corredores, Henry teve consciência da seriedade do que estava a começar. Para se intrometer entre Rosalind e o fantasma da sua mãe teria de assumir responsabilidades. Tinham assumido um contrato não verbalizado. Dito de uma forma mais directa, fazer amor com Rosalind implicava casar com ela. No seu lugar, qualquer homem razoável podia entrar em pânico com a seriedade da situação, mas a simplicidade do processo impediu Henry Perowne de sentir outra coisa que não um enorme prazer.
Aqui está ela, quase um quarto de século depois, a começar a agitar-se nos braços dele, a dormir, mas de certa forma consciente de que o seu despertador está prestes a tocar. O nascer do Sol - geralmente um acontecimento no campo, mas nas cidades uma mera abstracção - ainda está a hora e meia de distância. O apetite da cidade por trabalhar ao sábado é muito forte. Às seis da manhã, Euston Road já está em plena actividade. Neste preciso momento, o som de algumas motas, que guincham como serras de madeira, eleva-se acima do barulho geral. Também é nesta altura que se ouve o primeiro coro de sirenes da polícia, a subir e a descer de acordo com o efeito de Doppler: já não é cedo de mais para as coisas más. Por fim, Rosalind volta-se de frente para ele. Este lado do corpo humano exala um calor comunicativo. Quando se beijam, ele imagina os olhos verdes a procurarem os seus. Aquele ciclo banal de adormecer e acordar no escuro, por baixo da roupa, com outro ser, um mamífero pálido, suave e terno, de faces encostadas num ritual de afecto, sedimentado por breves instantes nas necessidades eternas de ternura, consolo, segurança, de membros entrelaçados para estarem mais próximos - uma simples consolação diária, quase demasiado óbvia, fácil de esquecer com a luz do dia. Será que alguma vez foi descrito por um poeta? Não uma ocasião em particular, mas a sua repetição ao longo dos anos. Tem de perguntar à filha.
- Tenho a impressão que passaste toda a noite a deitar-te e a levantar-te - diz Rosalind.
- Fui lá abaixo às quatro da manhã e estive sentado a conversar com o Theo.
- E ele está bom?
- Está.
Não é a altura própria para lhe falar do avião, sobretudo agora que a sua importância já esmoreceu. Quanto ao seu episódio de euforia, não se sente naquele momento com imaginação suficiente para o descrever. Fá-lo-á mais tarde. Ela está a acordar no momento em que ele está a adormecer. Mas a sua erecção mantém-se, como se estivesse a encher o peito de ar, a ficar cada vez mais retesado, sem expirar. Pode ser a exaustão que está a torná-lo mais sensível. Ou uma abstinência de cinco dias. Mesmo assim, há qualquer coisa de familiar na forma como ela o abraça e se chega mais para ele, brindando-o com um corpo excessivamente quente. Não se sente em forma para tomar a iniciativa, preferindo contar com a sua sorte ou com as necessidades dela. Se não acontecer, paciência. Nada o impedirá de adormecer.
Ela beija-lhe o nariz.
- Vou tentar ir buscar o meu pai assim que sair do trabalho. A Daisy chega de Paris às sete. Vais lá?
- Hum.
Daisy: sensual, intelectual, pequenina, pálida e correcta. Que outra estudante e aspirante a poeta usa fatos de casaco e minissaia com blusas brancas frescas, raramente bebe e trabalha melhor antes das nove da manhã? A sua menina, a escapar-se-lhe por entre os dedos e a transformar-se numa mulher eficiente em Paris, irá publicar o seu primeiro livro de poemas em Maio. E não por uma editora qualquer, mas por uma venerável instituição de Queen Square, em frente do hospital onde ele fechou o primeiro aneurisma. Até o seu mal-humorado avô, com uma intolerância profunda à escrita contemporânea, lhe mandou uma carta quase ilegível lá do seu castelo, que ao ser decifrada se revelou arrebatadora. Perowne, que não sabe julgar aquelas coisas e está obviamente satisfeito por ela, tem sofrido com os versos de amor, com o facto de ela conhecer tão bem os corpos de homens que ele nunca conheceu ou sonhar com eles de forma tão vivida.
Quem será o cretino cuja tumescência parece um «regador excitado» a aproximar-se de uma «rosa peculiar»? Ou o outro que canta no duche «como Caruso» enquanto ensaboa «ambas as barbas»? Tem de reflectir sobre aquela indignação, que dificilmente poderá considerar-se uma reacção literária. Tem tentado sacudir o sentimento de posse de pai e ver os poemas apenas como poemas. Já gosta dos menos pesados, mas não esquece o verso sinistro de um outro poema que observa «como cada rosa cresceu sobre uma haste infestada de tubarões». A jovem pálida das rosas já não está em casa há muito tempo. A sua chegada é um oásis ao fim do dia.
- Amo-te.
Não é apenas uma expressão de afecto, pois ao mesmo tempo Rosalind estende o braço para baixo e apodera-se dele e, sem o soltar, estende o outro braço para trás para desligar o despertador, num gesto desajeitado que lança tremores de músculos através do colchão.
- Fico feliz por isso. Beijam-se, e ela diz:
- Já estou meio acordada há algum tempo e tenho estado a sentir-te cada vez mais duro nas minhas costas.
- E que tal?
- Fez-me desejar-te - sussurra Rosalind. - Mas não tenho muito tempo. Não me atrevo a chegar atrasada.
Tanta sedução tão sem esforço! Vendo o seu desejo realizado, sem ter de levantar um dedo, fazendo inveja aos deuses e aos déspotas, Henry acorda da sua letargia e beija-a com intensidade. Sim, ela está pronta. E é assim que acaba a sua noite e começa o seu dia, às seis da manhã, perguntando a si próprio se todas as essências do compromisso matrimonial terão convergido num único momento: no escuro, na posição do missionário, à pressa, sem preâmbulo. Mas isto é apenas o lado exterior do acontecimento. Aquele momento libertou-o de todos os pensamentos, da memória, dos segundos que passam e do estado do mundo. O sexo é um meio de comunicação diferente, refractor do tempo e do sentido, um hiper-espaço biológico tão distante da existência consciente como os sonhos, ou como a água do ar. Como costumava dizer a sua mãe, é um outro elemento; o dia muda. Henry, assim que deres umas braçadas. E esse dia terá forçosamente de ser diferente de todos os outros.
Há alguns minutos que está à janela, a exaltação está a desaparecer e ele começa a tremer de frio. Nos jardins, rodeados por um gradeamento alto, vê-se uma ligeira camada de geada sobre as depressões e as elevações do relvado para lá da fileira de plátanos. Vê uma ambulância com a sirene desligada e as luzes azuis a piscarem voltar para Charlotte Street e acelerar em direcção a sul, talvez para o Soho. Sai da janela e vai buscar um roupão grosso de lã, que está em cima de uma cadeira. No momento em que se vira apercebe-se da presença de um elemento novo lá fora, na praça ou no meio das árvores, brilhante mas sem cor, esbatido na sua visão periférica pelo movimento da cabeça. Mas não olha logo para trás. Está com frio e quer vestir o roupão. Pega nele, enfia um braço numa manga e só volta para a janela quando já está à procura da outra manga e a apertar o cinto à volta da cintura.
Não compreende logo o que está a ver, embora ache que sim. No primeiro momento, com a sua ansiedade e curiosidade, atribui-lhe proporções planetárias: é um meteoro a arder no céu de Londres, a atravessá-lo da esquerda para a direita, perto do horizonte, mas bem visível dos edifícios mais altos. Mas os meteoros parecem setas, ou agulhas. Vêem-se de relance, num lampejo, antes de serem consumidos pelo seu próprio calor. Aquilo está a deslocar-se devagar, até majestosamente. Aumenta rapidamente a sua perspectiva para a escala do sistema solar: aquele objecto não está a centenas de milhões de quilómetros de distância a rodopiar numa órbita intemporal à volta do Sol. É um cometa colorido de amarelo, com o seu habitual núcleo brilhante a arrastar uma causa feérica. Viu o Hale-Bopp com Rosalind e os filhos do cimo de um outeiro em Lake District, e sente-se de novo grato por estar a vislumbrar algo de verdadeiramente impessoal, para além dos limites da Terra. Mas isto é melhor, mais brilhante, mais rápido, e ainda mais impressionante por ser inesperado. Deve ter-lhes escapado a cobertura pelos meios de comunicação.
Têm trabalho de mais. Vai acordar Rosalind - sabe que ela vai ficar empolgada pela visão -, mas não sabe se chegará à janela antes de o cometa desaparecer. Isso fará que também ele não o veja. Mas é algo demasiado extraordinário para não ser partilhado.
Está a dirigir-se para a cama quando ouve um estrondo rouco, um trovão distante que vai aumentando de volume, e pára para ouvir. Isso diz-lhe tudo. Olha para trás, para a janela, por cima do ombro, para confirmar a sua ideia. Claro que um cometa está tão distante que parece estar parado. Horrorizado, regressa à sua posição na janela. O som vai subindo de volume, numa progressão constante, enquanto ele revê a sua escala, desta vez diminuindo-a, da poeira solar e do gelo para uma dimensão local. Só passaram três ou quatro segundos desde que viu pela primeira vez aquele fogo no céu e já mudou duas vezes de opinião em relação a ele. Está a seguir uma rota que ele próprio já seguiu muitas vezes na vida, ao longo da qual percorre uma série de rotinas, como ajustar o assento, acertar o relógio, guardar os papéis, sempre com curiosidade de ver se consegue descobrir a sua casa no meio daquela extensão imensa de um laranja-acinzentado quase belo; de leste para oeste, sobre as margens sul do Tamisa, a mais de seiscentos metros de altitude, na abordagem final a Heathrow.
Está exactamente a sul dele naquele momento, a pouco mais de um quilómetro de distância, prestes a passar por cima do entrançado dos plátanos despidos e depois por trás da Torre dos Correios, ao nível das parabólicas mais baixas. Apesar das luzes da cidade, os contornos do avião não são visíveis na escuridão da madrugada. O fogo deve ser na asa mais próxima, na união com a fuselagem ou talvez num dos motores que ficam por baixo. A parte mais visível do fogo é uma esfera branca achatada e arrastada por um cone amarelo e vermelho, menos parecido com um meteoro ou um cometa que com a estranha imagem que um artista poderia produzir de qualquer deles. Como a fingir normalidade, as luzes do trem de aterragem vão a piscar, mas o som do motor diz tudo. Sob o rugido forte e profundo há um som tenso, abafado, como de um louco, a aumentar de volume - é ao mesmo tempo um berro e um grito suspenso, um barulho impuro e sujo que sugere um esforço mecânico insustentável, para lá da capacidade do aço temperado, a subir em espiral até um ponto extremo, elevando-se irresponsavelmente como o acompanhamento de um terrível carrossel. Há qualquer coisa prestes a ceder.
Já não está a pensar em acordar Rosalind. Porquê acordá-la para assistir àquele pesadelo? Aliás, o espectáculo a que assiste tem a familiaridade de um sonho recorrente. À semelhança da maior parte dos passageiros, aparentemente subjugados pela monotonia das viagens de avião, Perowne deixa muitas vezes os seus pensamentos percorrerem todo um leque de possibilidades enquanto está docilmente sentado, preso por um cinto de segurança, à frente de uma refeição empacotada. Lá fora, para lá de uma parede fina de aço e de plástico que vai rangendo alegremente, estão sessenta graus negativos e o avião está a doze mil metros do solo. Ao sobrevoar o Atlântico à velocidade de um quilómetro e meio por segundo alinhamos na mesma loucura em que todos os outros alinham. O passageiro ao nosso lado está tranquilo porque nós e todas as outras pessoas à nossa volta parecem calmas. Vistas de uma determinada perspectiva - mortes por passageiro por milha - as estatísticas são consoladoras. Mas que outra maneira há de assistir a uma conferência no Sul da Califórnia? As viagens de avião são um mercado especulativo, um truque de percepções espelhadas, uma aliança frágil de fé colectiva; desde que os nervos estejam sob controlo e não haja bombas ou terroristas a bordo, toda a gente está feliz. Quando qualquer coisa falha, não há meias medidas. De outra perspectiva - mortes por viagem -, os números já não são tão bons. O mercado podia entrar em queda.
De garfo de plástico na mão, pergunta muitas vezes a si próprio como seria - os gritos na cabina parcialmente abafados pela insonorização acústica, mãos a remexerem em sacos à procura de telefones e de últimas palavras, os tripulantes aterrorizados, agarrados aos fragmentos que ainda recordam dos procedimentos, o cheiro igualitário a merda. Mas a cena imaginada a partir do exterior, tão de longe como se encontra agora, é igualmente familiar. Há quase dezoito meses que o mundo viu e tornou a ver os prisioneiros invisíveis levados pelos céus em direcção ao matadouro, e em cada um desses momentos a silhueta inocente de um avião a jacto foi objecto de uma nova associação. Toda a gente concorda que hoje em dia os aviões têm um aspecto diferente no céu, como objectos predatórios ou condenados.
Henry sabe que é um truque óptico que o leva a pensar que consegue ver um contorno, uma forma mais escura contra a escuridão. O uivo do motor a arder continua a subir até um ponto extremo. Não o surpreenderia ver as luzes acenderem-se por toda a cidade e a praça encher-se de pessoas de roupão. Atrás dele, Rosalind, habituada a expurgar do seu sono os problemas nocturnos da cidade, vira-se de lado. Provavelmente o barulho não é mais incómodo que o de uma sirene em Euston Road. O núcleo branco a arder e a sua cauda colorida tornaram-se maiores - nenhum passageiro que estivesse sentado nessa parte central do avião poderia sobreviver. É esse o outro elemento familiar - o horror do que não consegue ver. A catástrofe observada de uma distância segura. Assistir à morte em larga escala sem ver ninguém morrer. Nem sangue, nem gritos, nem figuras humanas e, naquele vazio, a imaginação à solta. A luta até à morte no cockpit. Um grupo de passageiros corajosos a reunir-se para um ataque desesperado aos fanáticos. Para que sítio do avião se poderia correr para fugir ao calor do fogo? O lado do piloto talvez parecesse menos solitário. Será uma loucura patética tentar tirar a mala do cacifo ou um optimismo necessário? A senhora muito pintada que delicadamente nos serviu um croissant com doce tentará agora deter-nos?
O avião sobrevoa as copas das árvores. Por instantes, o fogo lampeja festivamente por entre os ramos. De repente, Perowne lembra-se de que talvez devesse fazer qualquer coisa. Quando os serviços de emergência tiverem anotado e transferido a sua chamada, o que iria acontecer já terá acontecido. Se estiver vivo, o piloto já terá comunicado via rádio. Talvez já estejam a cobrir a pista de espuma. Nesta fase será inútil ir apresentar-se no hospital. Segundo o plano de emergência, Heathrow não fica na sua área. Algures, mais para oeste, os médicos deitados nos seus quartos mergulhados na penumbra estarão a ajeitar a roupa da cama sem fazerem a mínima ideia do que os espera. Falta descer quinze milhas. Se o depósito de combustível explodir agora, não haverá nada a fazer.
O avião aparece para lá das árvores, percorre um espaço vazio e torna a desaparecer por detrás da Torre dos Correios. Se Perowne fosse dado a sentimentos religiosos, a explicações sobrenaturais, diria que fora chamado, que tinha de reconhecer uma ordem escondida, uma inteligência exterior que queria dizer-lhe ou mostrar-lhe qualquer coisa pelo facto de ter acordado com um estado de espírito tão pouco habitual e de ter ido à janela sem nenhum motivo especial. Mas uma cidade como aquela cultiva a insónia; é ela própria uma entidade que nunca dorme e cujos fios nunca param de cantar; entre tantos milhões de habitantes tem de haver pessoas à janela que normalmente deveriam estar a dormir. E não necessariamente as mesmas pessoas todas as noites. O facto de ser ele e não outra pessoa é puramente arbitrário e envolve um princípio antrópico. O primeiro pensamento de uma pessoa com tendências para o sobrenatural corresponde ao que os seus colegas psiquiatras chamam um problema ou uma ideia de referência. Um excesso de subjectivismo, o ordenamento do mundo em linha com as suas necessidades, a incapacidade de contemplar a sua própria insignificância. Na opinião de Henry, esse raciocínio pertence a um espectro em cuja extremidade surge, como um templo abandonado, a psicose.
Pode ter sido um raciocínio deste tipo a causar o fogo no avião. Um homem com uma fé inabalável e uma bomba no salto do sapato. Por entre os passageiros aterrorizados, muitos podem estar a rezar - outro problema de referência - pedindo ao seu próprio deus que interceda. Se houver mortes, ao próprio deus que as ordenou será em breve pedido conforto, no momento dos funerais. Perowne considera tratar-se de uma questão complexa, de uma complicação humana fora do alcance da moral. Dela também advêm, para além da falta de lógica e da carnificina, pessoas boas, actos meritórios, belas catedrais, mesquitas, cantatas, poesia. Uma vez ficou espantado e indignado ao ouvir um padre defender a ideia de que até a negação de Deus é um exercício espiritual, uma forma de oração: não é fácil fugir às garras dos crentes. O melhor que há a esperar em relação ao avião é que tenha sofrido um simples acidente mecânico e secular.
Passa para lá da Torre e começa a retroceder para oeste, através de uma zona de céu limpo, com um ligeiro ângulo para norte. O fogo parece diminuir com aquela lenta mudança de perspectiva. Agora vê sobretudo a cauda com a luz a piscar. O barulho da exaustão do motor está a enfraquecer. O trem de aterragem estará descido? Ao mesmo tempo que faz a pergunta a si próprio, deseja que assim seja. Será uma espécie de prece? Não está a pedir favores a ninguém. Mesmo quando as luzes de aterragem já estão reduzidas a nada, ele continua a olhar para o céu a ocidente, temendo assistir a uma explosão, sem conseguir desviar os olhos. Ainda com frio, apesar do roupão, limpa a vidraça da condensação da sua respiração e pensa quão distante parece agora aquele estado de espírito exaltado e inesperado que o fez sair da cama. Por fim estica-se para desprender as portadas e tapar o céu.
Ao afastar-se da janela lembra-se da famosa experiência de pensamento de que ouviu falar num curso de Física. Um gato, o gato de Schrõdinger, está escondido numa caixa tapada e ou está vivo ou acabou de ser morto por um martelo activado aleatoriamente que parte um frasco de veneno. Até o observador levantar a tampa da caixa, ambas as possibilidades, de o gato estar vivo ou morto, coexistem em universos paralelos, igualmente reais. O momento em que a tampa é levantada e o gato fica à vista põe fim a uma onda quântica de probabilidades. Nunca nada disto fez qualquer sentido para ele. Nenhum sentido humano. Certamente outro exemplo de um problema de referência. Ouviu dizer que até os físicos estão a desistir dele. Henry acha que é algo que está para lá dos requisitos da prova: um resultado, uma consequência, tem uma existência individual no mundo, é conhecido por outras pessoas, mas é independente dele e está à espera de ser descoberto por ele. Nessa altura, o que acabará será a sua própria ignorância. Seja qual for o resultado, já está delineado. E, seja qual for o destino dos passageiros, quer estejam assustados quer se sintam seguros ou estejam mortos, naquela altura já terão chegado ao destino.
Na primeira consulta, a maior parte das pessoas lança um olhar furtivo às mãos do cirurgião na esperança de que elas as tranquilizem. Os futuros doentes procuram descobrir nelas delicadeza, sensibilidade, firmeza, até talvez uma palidez imaculada. Isso leva a que Henry Perowne perca vários casos por ano. Normalmente, sabe o que vai acontecer antes do doente: este olha várias vezes para o chão, as perguntas que tinha preparado começam a falhar, agradece várias vezes de uma forma demasiado empática ao dirigir-se para a porta. Outros doentes não gostam do que vêem, mas não estão conscientes do seu direito a procurarem outro médico; outros reparam nas mãos, mas sentem-se acalmados pela reputação, ou tanto lhes faz; e há ainda os que não reparam em nada, nem sentem nada, ou não conseguem comunicar devido à deficiência cognitiva que motivou a sua vinda.
Perowne não se importa. Os desertores que batam a outra porta, no mesmo corredor ou do outro lado da cidade. Outros doentes tomarão o seu lugar. O mar da infelicidade neural é vasto e profundo. As suas mãos são suficientemente firmes, mas são grandes. Se fosse um bom pianista - toca por passatempo, mas sem jeito -, as suas mãos conseguiriam tocar ao mesmo tempo notas separadas por dez teclas. São mãos com nós e tendões protuberantes, com uma pequena mancha de pêlos ruivos na base de cada dedo - cujas pontas são largas e chatas, como as ventosas de uma salamandra. Os polegares têm um tamanho imodesto e são curvados para trás, estilo banana, e até em repouso parecem desconjuntados, mais apropriados para o circo, por entre palhaços e trapezistas, que às mãos de um cirurgião. E as mãos, como grande parte da restante pele de Perowne, estão alegremente sarapintadas de melanina alaranjada e castanha até aos nós dos dedos. Certo tipo de clientes acha isso estranho, até impróprio. Não querem aquelas mãos, mesmo tapadas com luvas, a escarafuncharem o seu cérebro.
São as mãos de um homem alto e vigoroso, a quem os últimos anos têm dado algum peso e pose. Quando tinha vinte anos e vestia um casaco de tweed parecia um cabide. Quando estica as costas, tem mais de um metro e oitenta. A sua ligeira curvatura dá-lhe um ar apologético, que para muitos doentes é um dos factores do seu encanto. Também se sentem à vontade graças à sua forma pouco assertiva de falar e aos seus olhos de um verde suave, com rugas marcadas pelo riso aos cantos. Até aos quarenta e poucos anos, as sardas pueris que lhe cobriam as faces e a testa tinham o mesmo efeito, mas ultimamente começavam a tornar-se menos visíveis, como se a sua posição hierárquica o tivesse finalmente obrigado a abandonar a sua aparência frívola. Os doentes ficariam menos satisfeitos se soubessem que ele nem sempre está a ouvi-los. Às vezes está a sonhar acordado. Como uma chamada de atenção para o trânsito no rádio do carro, por vezes uma narrativa sombria pode surgir-lhe na mente, urgente e indesejada, mesmo durante uma consulta. Tem jeito para disfarçar e continua a acenar com a cabeça ou a franzir a testa ou a fechar firmemente a boca em torno de um leve sorriso. Quando volta à realidade, alguns segundos depois, tem sempre a sensação de que não perdeu grande coisa.
Em certa medida, a curvatura das suas costas é enganadora. Perowne sempre teve ambições físicas e tem relutância em abdicar delas. Nas suas rondas percorre os corredores com um passo impaciente, que o seu séquito tem dificuldade em acompanhar. É mais ou menos saudável. Quando se observa ao espelho de corpo inteiro da casa de banho depois de tomar duche, nota um certo espessamento, um inchaço quase sensual sob as costelas, que desaparece quando se põe muito direito ou quando levanta os braços. Por outro lado, os seus músculos - os peitorais, os abdominais -, embora modestos, mantêm uma definição razoável, sobretudo quando o candeeiro do tecto está apagado e a luz vem de lado. Ainda não está acabado. O cabelo, apesar de estar a ficar mais ralo, continua a ser ruivo. Só na zona púbica aparecem os primeiros caracóis prateados.
Continua a correr quase todas as semanas em Regent's Park, pelos jardins restaurados de William Nesfield, para lá do Lion Tazza até Primrose Hill e depois para trás. E continua a ganhar a alguns dos médicos mais novos ao squash, centrando os seus passes longos no T que está ao meio do court,
de onde lança as boladas altas, de que se orgulha particularmente. Ganha quase sempre ao anestesista com quem joga aos sábados. Contudo, quando o seu adversário é suficientemente bom para o tirar do centro do court e o fazer correr. Henry não aguenta mais de vinte minutos. Encostado à parede do fundo, mede discretamente a pulsação, perguntando a si próprio se a sua estrutura de homem de quarenta e oito anos aguentará um ritmo de cento e noventa batidas por minuto. Houve um dia em que tinha dois jogos de vantagem em relação a Jay Strauss quando foram chamados - foi quando houve o choque de comboios em Paddington e toda a gente foi chamada - e trabalharam doze horas a fio de ténis e calções por baixo da bata. Todos os anos Perowne corre uma meia maratona de beneficência e diz-se, erradamente, que todos os seus subalternos que quiserem ser promovidos têm de a correr também. No ano anterior tinha feito uma hora e quarenta e um minutos, onze minutos abaixo da sua melhor marca. A falta de assertividade também é enganadora - é mais estilo que carácter. Não é possível ser-se um cirurgião do cérebro e não se ser assertivo. Como é natural, os alunos e os médicos mais novos têm menos experiência do seu encanto que os doentes. O aluno que, na presença de Perowne, se referiu a uma TAC com as palavras «na parte de baixo do lado esquerdo» provocou-lhe um ataque momentâneo de raiva e foi envergonhado e mandado embora para ir reaprender a localização das lesões. No bloco operatório, a equipa de Perowne diz que ele está no extremo da inexpressividade: não começa a utilizar obscenidades quando as dificuldades e os riscos aumentam, não murmura ameaças de expulsar algum incompetente da sala, não tem nenhum daqueles apartes dos tipos duros - pronto, lá vêm as lições de violino - que supostamente aliviam a tensão. Pelo contrário, na opinião de Perowne, quando as coisas são difíceis é melhor conter a tensão. Nesses momentos prefere os murmúrios concisos ou o silêncio. Se algum assistente se queixa
da posição de um retractor ou a instrumentista lhe põe na mão uma pinça para pituitária num ângulo estranho, Perowne pode, num dia mau, soltar um «merda» em staccato, particularmente perturbador pela sua raridade e pela sua falta de ênfase, e nesses momentos o silêncio da sala torna-se mais pesado. Gosta de ter música na sala quando está a operar, sobretudo obras de Bach ao piano - as Variações Goldberg, o Cravo Bem Temperado, as Partitas. Os seus preferidos são Angela Hewitt, Martha Argerich, às vezes Gustav Leonhardt. Quando está muito bem disposto, admite as interpretações mais soltas de Glenn Gould. Nas reuniões da administração gosta de precisão, de todos os assuntos discutidos e decididos no tempo previsto e, para que assim seja, é um presidente eficaz. As divagações exploratórias e as anedotas dos colegas mais velhos, toleradas pela maior parte dos participantes como um jogo ocupacional, deixam-no impaciente; fantasiar deve ser uma actividade solitária. As decisões são de todos.
Por isso, apesar da postura apologética, das suas maneiras delicadas e da sua tendência para de vez em quando sonhar acordado, é raro Perowne hesitar como hesita naquele momento - parado aos pés da cama, sem conseguir decidir se deve ou não acordar Rosalind. Não faz sentido. Não há nada para ver. É um impulso inteiramente egoísta. O despertador dela vai tocar às seis e meia e depois de ele lhe contar a história de certeza que não conseguirá tornar a adormecer. Ouvi-la-à até ao fim. Tem um dia difícil pela frente. Agora que as portadas estão fechadas e se encontra de novo às escuras, Perowne tem a noção da agitação em que se encontra. Os seus pensamentos são frágeis e vertiginosos - não consegue manter nenhuma ideia tempo suficiente para lhe perceber o sentido. Sente-se de alguma forma culpado, mas também sem saber o que fazer. São sentimentos contraditórios, mas não inteiramente, e é a sua sobreposição, a forma como expressam a mesma coisa de ângulos diferentes, que sente necessidade de compreender. Culpado na sua incapacidade de decidir. Impotentemente culpado. Vacila e pensa outra vez no telefone. À luz do dia não parecerá uma atitude negligente não ter ligado para os serviços de emergência? Será óbvio que não havia nada a fazer, que não havia tempo? O seu crime foi ficar na segurança do quarto, envolto num roupão de lã, sem se mexer nem fazer qualquer som, meio a sonhar enquanto via pessoas morrer. Sim, devia ter telefonado, nem que fosse para falar, para avaliar a sua voz e os seus sentimentos perante os de um estranho.
E é por isso que quer acordá-la, não apenas para lhe dar a notícia, mas por estar algo perturbado, por estar sempre a fugir da sua linha de raciocínio. Quer prender-se aos pormenores exactos daquilo que viu, organizá-los para a mente pragmática e legal de Rosalind, para o seu olhar firme. Gostaria de sentir o contacto das suas mãos - são pequenas e macias, sempre mais frescas que as suas. Já não fazem amor há cinco dias - foi na segunda-feira de manhã, antes do noticiário das seis, durante uma chuvada torrencial, apenas com a luz ténue da casa de banho, vinte minutos arrancados (como costumam dizer por piada) às mandíbulas do trabalho. Na vida ambiciosa das pessoas de meia-idade parece só haver o trabalho. Às vezes fica no hospital até às dez da noite; é o trabalho que às vezes o tira da cama às três da manhã, para voltar a apresentar-se às oito. O trabalho de Rosalind desenvolve-se numa série de lentos crescendos e fins abruptos, que acompanham a sua tentativa de manter o seu jornal afastado de processos em tribunal. Há dias, até semanas a fio, em que todas as suas horas são determinadas pelo trabalho; é a maré, o ciclo lunar pelo qual alinharam as suas vidas, e sem ele pode parecer que não há nada, que Henry e Rosalind Perowne não são nada.
Henry não consegue resistir à urgência dos seus casos, nem negar o prazer egoísta que retira da sua própria competência, nem a alegria que lhe dá ver o alívio dos doentes quando sai da sala de operações como um deus, um anjo com a boa nova - a vida, não a morte. Os melhores momentos de Rosalind são fora do tribunal, quando um litigante poderoso cede perante uma argumentação superior, ou, mais raramente, quando um julgamento lhe corre bem e estabelece um princípio legal. Uma vez por semana, normalmente ao domingo à noite, colocam as agendas lado a lado, como pequenos seres em acasalamento, para que os compromissos de cada um possam ser transferidos para a agenda do outro num raio de infravermelhos. Quando roubam tempo para fazerem amor, deixam sempre os telefones ligados. Por uma espécie de sincronismo perverso, acontece muitas vezes um deles tocar quando estão a começar. Tanto acontece com o seu como com o de Rosalind. Se é ele que é obrigado a vestir-se e a sair do quarto à pressa - regressando talvez a praguejar à procura das chaves ou de trocos -, fá-lo deixando para trás um olhar de desejo, e percorre o caminho de casa até ao hospital - dez minutos a andar bem - com o seu fardo, os seus pensamentos de amor. Contudo, depois de passar as portas de vaivém, de percorrer o xadrez gasto do linóleo do chão das urgências, de subir no elevador até ao terceiro andar onde fica o bloco operatório, de começar a desinfectar e ouvir, de sabão na mão, as dificuldades do seu assistente, os últimos sinais de desejo abandonam-no, sem que se aperceba disso. Sem ressentimentos. É famoso pela sua velocidade, a sua taxa de sucesso e a sua lista - mais de trezentos casos por ano. Alguns correm mal, um punhado sobrevive com alguma desorientação, mas a maior parte é bem sucedida, e muitos regressam ao trabalho; trabalho - a última divisa da saúde.
E é por causa do trabalho que não pode acordá-la. Tem de estar no Supremo Tribunal às dez horas para uma audiência de urgência. O seu jornal foi impedido de dar os pormenores de uma ordem de restrição dada a outro jornal.
A parte poderosa que obteve a ordenação original conseguiu defender com êxito perante um juiz de turno que nem sequer a ordem de restrição poderia ser divulgada. Está em causa a liberdade de imprensa, e Rosalind tem de tentar obter a anulação dessa segunda ordem até ao fim do dia. Antes da audiência, a apresentação do caso ao juiz e - espera - uma primeira abordagem do caso com a outra parte nos corredores. Mais tarde informará os editores e a administração das opções que se lhes oferecem. Na noite anterior, as reuniões obrigaram-na a chegar tarde a casa, muito depois de Henry já estar a dormir sem ter jantado. Talvez tenha bebido um chá, sentada à mesa da cozinha a ler os relatórios. Talvez até tenha tido dificuldade em adormecer.
Sente-se perturbado, pouco razoável, mas continua a precisar de falar com ela e por isso mantém-se aos pés da cama, a olhar para os contornos do seu corpo sob o edredão. Está a dormir como uma criança, com os joelhos encolhidos. Sob aquela escuridão quase total, como parece pequena na imensidão da cama... Ouve a sua respiração, quase inaudível quando inspira, tranquilamente enfática quando expira. Faz um som com a língua, um estalido húmido contra o céu da boca. Apaixonou-se por ela há muitos anos, numa enfermaria de um hospital, num momento de terror. Ela nem dava pela presença dele. Era apenas uma bata branca que se aproximava da sua cama para lhe retirar os pontos do lábio superior. Só ao fim de três meses beijou aqueles lábios. Mas sabia mais sobre ela, ou pelo menos tinha visto mais dela, do que qualquer futuro amante poderia esperar saber ou ver.
Aproxima-se dela, debruça-se e beija-lhe a nuca quente. Depois afasta-se, fecha a porta do quarto devagar e desce para a cozinha para ir ligar a telefonia.
É um lugar comum da paternidade e da genética moderna que os pais têm pouca ou nenhuma influência sobre o carácter dos filhos. Nunca se sabe o que nos vai sair. Oportunidades, saúde, perspectivas, sotaque, maneiras à mesa - essas coisas talvez possamos ser nós a formar. Mas o que efectivamente determina o tipo de pessoa que irá viver connosco é qual o espermatozóide que encontra e qual o óvulo que é encontrado, como são escolhidas as cartas dos dois baralhos, e depois como são baralhadas, partidas e dadas no momento da recombinação. Alegre ou neurótico, amável ou insaciável, curioso ou lento, expansivo ou tímido, ou nem uma coisa nem outra; a quantidade de trabalho previamente feita pode ser quase uma afronta para o amor-próprio dos pais. Por outro lado, pode dar-nos uma certa liberdade. A questão torna-se mais clara assim que temos dois filhos; duas pessoas inteiramente diferentes que emergem de oportunidades de vida mais ou menos semelhantes. Na lúgubre cozinha da cave, às cinco para as quatro da manhã, sob um único foco de luz, como se estivesse no palco, está Theo Perowne, de dezoito anos, que há muito deixou para trás o ensino oficial, reclinado numa cadeira, com umas calças justas de ganga preta e umas botas de cabedal preto (compradas com o seu próprio dinheiro) cruzadas sobre a extremidade da mesa. Tão diferente da sua irmã Daisy como tudo o que é aleatório pode sê-lo. Está a beber água de um copo grande. Com a outra mão segura a revista de música que está a ler. Caído no chão está um blusão de cabedal de ombros salientes. A guitarra está no estojo, encostada a um armário. Já tem alguns autocolantes de viagens a outras cidades - Trieste, Oakland, Hamburgo, Vai d'Isère. Há espaço para mais. O som de uma estação de rádio que transmite música pop durante toda a noite sai, como um chuvisco, de uma aparelhagem estéreo na prateleira por cima de uma pequena biblioteca de livros de cozinha.
Às vezes Perowne pergunta a si próprio se alguma vez, quando era jovem, teria imaginado que seria pai de um músico de blues. O seu próprio percurso foi simples, sem dúvidas nem queixas, num contínuo deslizar, da escola para a faculdade de Medicina, daí para a persistente aquisição de experiência clínica em Londres, Southend-on-Sea, Newcastle, Serviço de Urgência de Bellevue e depois outra vez Londres. Como é que ele e Rosalind, duas pessoas tão convencionais, tão cumpridoras do dever, deram origem a um espírito tão livre? A alguém que, com uma certa ironia, se veste ao estilo boémio dos anos cinquenta, que não lê nem se deixa convencer a prosseguir os estudos, que raramente se levanta antes da hora de almoço, cuja paixão é o domínio de todos os cambiantes da tradição, Delta, Chicago, Mississippi, de algumas peculiaridades que para ele são o segredo de todos os mistérios e do sucesso da sua banda, os New Blue Rider. Tem uma versão maior da cara da mãe, dos seus olhos suaves, mas não verdes - castanho-escuros, o proverbial amendoado, com um desvio ténue e exótico. Tem o ar indulgente da mãe - e uma variante mais compacta do corpo alto e magro do pai. Também tem as suas mãos, o que é bom para o seu ramo de actividade. No mundo fechado e mexeriqueiro dos blues ingleses, Theo é considerado uma promessa, já com alguma maturidade na forma como domina a linguagem dos blues, capaz talvez de um dia acompanhar os deuses, os deuses britânicos, claro - Alexis Korner, John Mayall, Eric Clapton. Alguém escreveu algures que Theo Perowne parece um anjo a tocar.
O seu pai concorda, naturalmente, apesar das suas dúvidas sobre os limites daquele modelo. Gosta bastante de blues - aliás foi ele que os deu a conhecer a Theo, quando tinha nove anos. Depois disso foi o avô que continuou a tarefa. Mas poderão doze acordes de três cordas óbvias dar satisfação uma vida inteira? Talvez seja um daqueles casos em que um microrganismo nos dá o mundo inteiro. Como um prato de porcelana fina. Ou uma única célula. Ou, como diz Daisy, como um romance de Jane Austen. Quando o músico e o ouvinte conhecem ambos o caminho tão bem, o prazer está no desvio, na curva inesperada perante um grão de areia. Ver o mundo inteiro num grão de areia. É o mesmo que acontece, tenta Perowne convencer-se a si próprio, quando se clipa um aneurisma: absorve-se a variação de um tema imutável.
E há algo na galopante autoridade com que Theo toca que faz reviver em Henry a inexplicável atracção dessa progressão simples. Theo é daqueles guitarristas que tocam de olhos abertos, numa espécie de transe, sem mexer o corpo nem sequer olhar para as mãos. Só cede ocasionalmente a um aceno de cabeça pensativo. Quando dá um concerto, inclina às vezes a cabeça para trás para indicar aos outros que vai continuar a tocar. Comporta-se em palco como quando está a conversar - tranquilo, formal, protegendo a sua privacidade numa concha de delicadeza e simpatia. Se, por acaso, vê os pais ao fundo da sala, levanta a mão esquerda do braço da guitarra numa saudação tímida e privada. Henry e Rosalind lembram-se então do berço de cartão no ginásio da escola e do solene José de cinco anos, com uma toalha de chá enrolada à volta da cabeça e presa por uma coroa de elásticos, de mão dada com uma Maria aflita, a fazer o mesmo gesto furtivo e afectuoso quando localiza finalmente os pais na segunda fila.
Esta contenção, esta calma, adapta-se aos blues, ou à versão de blues de Theo. Quando toca um clássico como Sweet Home Chicago, com o seu ritmo indolente e ponteado - Theo disse que está a começar a ficar farto daqueles blues de sempre -, começa num registo mais baixo, com um ritmo fácil mas intenso, como uma ave de rapina insinuante, que se liberta do cansaço com o seu passo arrastado para devorar extensões de savana por desbravar. Depois começa a deslocar a mão para a parte de cima do braço da guitarra e a sua timidez começa a abandoná-lo. Um pequeno ataque sincopado, um súbito acorde mais alto, uma nota suspensa contra a maré da harmonia, uma quinta sabiamente rebaixada, uma sétima subjugada por uma série de microtons sensuais. Depois uma dissonância transitória mas cheia de alma. Tem o dom rítmico de aumentar as expectativas, uma forma própria de tocar três notas contra um padrão de duas ou quatro. Os seus solos têm o pendor, o acento rítmico do bebop. É uma forma de hipnose, de sedução sem esforço. Henry não disse a ninguém, nem sequer a Rosalind, que há momentos em que está ao fundo de um bar de West End e a música o entusiasma, e então sente, num estado de exaltação, um grande orgulho no filho - indissociável do seu prazer na música - sob a forma de um aperto no peito, quase uma dor. Tem dificuldade em respirar. No coração dos blues não há melancolia, mas uma alegria estranha e secular.
A guitarra de Theo toca-o porque contém uma censura, um resquício da insatisfação mitigada da sua própria vida, do elemento que falta. Esse sentimento surge por vezes quando o concerto acaba, quando o neurocirurgião se despede afectuosamente de Theo e dos amigos e, ao chegar à rua, decide ir a pé e reflectir. Não há nada na sua vida que contenha aquela criatividade, aquela liberdade. A música ecoa um desejo ou uma frustração não expressos, uma sensação a que ele negou livre curso em si próprio; é a vida do coração celebrada em canções. A vida tem de ter mais qualquer coisa do que salvar vidas. A disciplina e a responsabilidade de uma carreira médica, ainda maiores por ter constituído família com vinte e poucos anos - envoltas, em larga medida, por um véu de fadiga; ainda é suficientemente novo para ansiar por coisas imprevisíveis e sem constrangimentos, mas já tem idade suficiente para saber que as hipóteses estão a diminuir. Estará prestes a tornar-se um daqueles loucos dos nossos dias que, já com uma certa idade, param junto às montras para verem os saxofones ou as motas ou arranjam uma amante da idade da filha? Já comprou um carro caro.
A música de Theo desperta no coração do pai aquele fardo de arrependimento. Vendo bem, é uma questão de blues. À laia de cumprimento, Theo deixa a cadeira vir para a frente e ficar apoiada nas quatro pernas e levanta uma mão. Não faz parte do seu estilo mostrar surpresa.
- Já vais trabalhar
- Acabei de ver um avião a arder na direcção de Heathrow.
- Estás a gozar!
Henry dirige-se para a aparelhagem a fim de a sintonizar, mas Theo pega no comando pousado em cima da mesa da cozinha e acende a pequena televisão que está ao lado do microndas para momentos como aquele, em que há notícias inesperadas. Esperam pelo fim do pomposo preâmbulo do noticiário das quatro da manhã - música sintética vibrante, imagens computorizadas a formarem espirais, a irradiarem, combinados com um son et lumière à escala wagneriana, com o objectivo de sugerirem urgência, tecnologia, cobertura global. Depois o habitual pivot de queixo rectilíneo, mais ou menos da idade de Perowne, começa a anunciar as principais notícias do momento. Torna-se imediatamente óbvio que o avião a arder ainda não entrou na matriz planetária. Por enquanto continua a ser um acontecimento subjectivo não confirmado. Mesmo assim, ficam a ouvir algumas das notícias.
- Hans Blix: justificação para uma guerra? - pergunta o pivot por entre o som de gongos e imagens do ministro francês dos Negócios Estrangeiros, M. de Villepin, a ser aplaudido nas Nações Unidas. - Sim, dizem os Estados Unidos e o Reino Unido. Não, diz a maioria.
Depois os preparativos para as manifestações contra a guerra que se realizarão nesse dia em Londres e em inúmeras cidades em todo o mundo; um campeonato de ténis na Florida interrompido por uma mulher com uma faca do pão...
- Que tal um café? - pergunta, apagando a televisão.
Theo levanta-se para o ir preparar e Henry conta-lhe a história, a sua principal história do momento. Não devia ter ficado surpreendido por ter tão pouco que contar: o avião e o seu ponto de luz a atravessar o seu campo de visão, da esquerda para a direita, por detrás das árvores, por detrás da Torre dos Correios, e a desaparecer para oeste. Mas sente que viveu muito mais do que aquilo.
- Hum, mas que estavas tu a fazer à janela?
- Já te disse. Não conseguia dormir.
- Que coincidência!
- Exactamente.
Os seus olhos encontram-se, num momento de desafio potencial, e depois Theo desvia o olhar e encolhe os ombros. A sua irmã gosta de discussões em que há ideias contraditórias. Daisy e Henry têm um amor inspirado, uma dependência patética, diriam Rosalind e Theo, de um bom combate. No meio da tralha de adolescente que se encontra no seu quarto, por entre revistas de guitarra, t-shirts e meias deixadas por qualquer lado e garrafas de batidos, há livros quase por abrir sobre ovnis, um termo que hoje em dia é praticamente sinónimo de naves espaciais, possuídas e conduzidas por extraterrestres. Na opinião de Henry, Theo tem uma visão do mundo segundo a qual tudo está relacionado, ligado de uma forma interessante, e há algumas entidades, nomeadamente o governo americano, com acesso privilegiado às informações de extraterrestres, que estão a sonegar ao resto do mundo esse saber maravilhoso, como se a ciência contemporânea, monótona e aprisionada num colete de forças, não pudesse compreendê-lo. Esse conhecimento é divulgado noutros livros, nos quais Theo também não toca. A sua curiosidade, já de si superficial, ficou refém de vendedores de falsidades. Mas será que isso interessa, quando ele toca guitarra como um anjo toca um sino, quando pelo menos mantém a fé em certas formas de conhecimento maravilhoso.
Quando ainda tem tanto tempo à sua frente para mudar de ideias, se é que já formulou algumas?
É um rapaz meigo, com aquelas pestanas grandes, aqueles olhos escuros e aveludados com um subtil toque oriental; não é do tipo de pessoa que entra facilmente em discussões. Os seus olhos tornam a encontrar-se e ele desvia o olhar com os seus pensamentos intactos. O universo pode estar a dar ao seu pai um sinal de uma relação qualquer, mas ele prefere não interpretar esse sinal. Ninguém pode fazer nada em relação a isso.
Assumindo tratar-se, não de algo que sonhou acordado, mas de algo que aconteceu de facto. Henry tenta chamá-lo à razão:
- O avião deve ter-se despenhado poucos minutos depois de eu o ter visto desaparecer. Quanto tempo achas que demora a notícia a chegar às televisões?
Theo, que está encostado à bancada a filtrar o café, olha para trás por cima do ombro e passa um dedo sobre o lábio inferior, um lábio grosso de um vermelho carregado, provavelmente não muito beijado ultimamente. Correu com a última namorada da mesma maneira que lida com todas as raparigas, sem dizer nada e deixando as relações arrefecerem sem dramatismos. A etiqueta dos tempos que correm é dizer pouco, utilizar o minimalismo para os cumprimentos, as apresentações, as despedidas, até para os agradecimentos. Mas ao telefone os jovens desabrocham. Theo chega a estar três horas seguidas ao telefone.
Fala com uma voz tranquilizadora, como uma criança preocupada, com a autoridade de um cidadão, ou até mesmo de um funcionário público da era electrónica.
- Vai dar no próximo noticiário, pai. Às quatro e meia.
Tem razão. Nu por baixo do roupão, já de si um traje de velhos e de doentes, com o cabelo ralo desgrenhado pela falta de sono e a voz, habitualmente uma voz regular de barítono, aligeirada pela agitação. Henry é um candidato a que o tranquilizem. É aqui que começa o longo processo pelo qual nos tornamos filhos dos nossos filhos. Até ao dia em que talvez os ouçamos dizerem «Pai, se começares a chorar, levamos-te para casa.»
Theo senta-se e faz deslizar a caneca de café por cima da mesa até o pai lhe chegar. Não fez café para ele mesmo. Em vez disso, abre outra garrafa de meio litro de água mineral. A pureza dos jovens. Ou será que está a curar uma ressaca? Já há muito que ficou para trás o ponto em que Henry acha que pode perguntar ou até expressar uma opinião.
- Achas que foram os terroristas? - pergunta Theo.
- É possível.
Os ataques de Setembro foram a introdução de Theo nos temas internacionais, o momento em que reconheceu que havia acontecimentos para lá dos seus amigos, da sua casa e da música que afectavam a sua existência. Na altura tinha dezasseis anos, o que parecia já bastante tarde. Perowne, nascido no ano anterior à crise do Suez, demasiado novo para os mísseis de Cuba, a construção do Muro de Berlim ou o assassinato de Kennedy, lembrava-se de ter chorado por causa de Aberfan em 1966 - cento e dezasseis crianças como ele, que tinham acabado de rezar todas juntas na escola, no último dia antes das férias, ficaram sepultadas por um mar de lama. Foi a primeira vez que desconfiou que o Deus bom e amigo das crianças enaltecido pela directora da sua escola talvez não existisse. Afinal, o mesmo viria a ser sugerido no futuro por outros grandes acontecimentos mundiais. Contudo, para a geração de Theo, sinceramente desprovida de Deus, a questão nem chegou a pôr-se. Nunca ninguém na sua escola brilhante, de portas envidraçadas, com ar futurista, lhe pediu que rezasse ou cantasse um incompreensível hino de louvor. A sua iniciação, à frente do televisor, vendo as torres desmoronarem-se, foi intensa, mas ele adaptou-se rapidamente.
Hoje em dia passa os olhos pelos jornais à procura de desenvolvimentos como se visse a lista dos programas de televisão. Desde que não haja nada de novo, a sua mente está livre. O terrorismo internacional, os cordões de segurança, os preparativos para a guerra - essas coisas representam a normalidade, são como o estado do tempo. No momento em que emerge para uma consciência de adulto, é este o mundo que encontra.
Essas coisas não podem perturbá-lo da mesma forma que perturbam o seu pai, que lê os mesmos jornais que ele, mas com uma fixação mórbida. Apesar da concentração de tropas no Golfo, dos tanques em Heathrow na quinta-feira, do ataque à mesquita de Finsbury Park, das notícias sobre células terroristas por todo o país e da promessa de Bin Laden feita em vídeo de «ataques de mártires» a Londres, Perowne alimentou durante algum tempo a ideia de que tudo aquilo era uma aberração, de que o mundo iria certamente acalmar-se e em breve seria diferente, de que seria possível encontrar soluções, de que a razão, sendo uma arma poderosa, seria irresistível, seria a única saída; ou de que, à semelhança de qualquer outra crise, também esta desapareceria em breve, abrindo caminho à seguinte, tal como acontecera nas Falklands, na Bósnia, no Biafra e em Chernobyl. Mas ultimamente esta atitude parece-lhe optimista. Contrariando a sua tendência, está a adaptar-se, como os doentes acabam por fazer com a perda súbita de visão ou a imobilização dos membros. Não há retrocesso. Os anos noventa parecem uma década inocente, e quem o pensaria na altura? Hoje em dia o ar que se respira é diferente. Comprou o livro de Fred Halliday e o que leu nas primeiras páginas pareceu-Lhe ao mesmo tempo uma conclusão e uma maldição: os ataques a Nova Iorque precipitaram uma crise global que, com sorte, demorará cem anos a ser ultrapassada. Com sorte. A vida de Henry, a de Theo e a de Daisy. E também dos filhos deles. Uma guerra dos cem anos.
Com a sua pouca experiência, Theo fez café triplamente forte. Apesar de tudo, pai até ao fim, Henry bebe-o. Agora de certeza que o seu dia começou.
- Não viste de que companhia era? - pergunta Theo.
- Não. Ia muito longe, e estava muito escuro.
- É que o Chás chega hoje de Nova Iorque.
É o novo saxofonista dos New Blue Rider, um rapaz enorme e brilhante de St. Kitts, que foi a Nova Iorque fazer uma semana de aulas de mestrado, teoricamente sob a orientação de Branford Marsalis. Estes miúdos têm instinto, o sentido de prerrogativa próprio de uma elite. Ry Cooder ouviu Theo tocar slide guitar em Oakland. Theo tem no seu quarto, presa a um espelho com fita gomada, uma base para copo com uma saudação amigável do mestre. Se virmos de perto, conseguimos ver escrito com uma esferográfica azul já a falhar, por baixo de uma mancha de cerveja, uma assinatura e «Continua em frente, miúdo!»
- No teu lugar não me preocupava. Os dorminhocos não começam a chegar antes das cinco e meia.
- Pois é. - Theo bebe mais um golo da garrafa de água. - Achas que foram os da Jlhad...?
Perowne sente-se tonto, mas a sensação não é desagradável. Tudo aquilo para que olha, incluindo a cara do filho, se afasta dele, mas sem ficar mais pequeno. Nunca tinha ouvido Theo utilizar aquela palavra. Será a palavra certa? Parece inofensiva, até bizarra, dita com a sua ligeira voz de tenor. Nos lábios de Theo - dá-se ao trabalho de dizer o «j» de uma maneira especial -, a palavra árabe parece tão inócua como um instrumento de cordas marroquino que a banda pudesse adoptar e electrificar. No estado islâmico ideal, sob a estrita lei da Shari'a, haverá lugar para cirurgiões. Para os guitarristas de blues haverá que arranjar outros empregos. Mas talvez ninguém exija tal estado. Ninguém exige nada. Só se vê o ódio, a pureza do niilismo. Um habitante de Londres podia até sentir alguma nostalgia do IRA. Mesmo no momento em que as nossas pernas se separavam do resto do nosso corpo, podíamos dar-nos ao trabalho de nos lembrar que a causa era a unificação da Irlanda. Agora, segundo o Reverendo lan Pasley, isso vai acontecer de qualquer maneira, pela determinação dos limites do território. Mais uma crise que vai desaparecer dos manuais ao fim de apenas trinta anos. Mas não é exactamente isso. Os islamistas radicais não são niilistas - querem ter a sociedade perfeita na Terra, que é o Islão. Pertencem a uma tradição condenada, em relação à qual Perowne segue a opinião convencional - a busca de uma utopia acaba por permitir todos os excessos, os meios mais cruéis de a obter. Se toda a gente acabará de certeza por ser feliz para sempre, onde está o crime em matar agora um ou dois milhões de pessoas?
- Não sei o que hei-de pensar - diz Henry. - É demasiado tarde para pensar. Mais vale esperarmos pelas notícias.
Theo parece aliviado. Com a sua maneira de ser prestável, está disposto a discutir tudo o que o pai quiser, se for preciso. Mas às quatro e vinte da manhã sabe-lhe melhor não ter de dizer quase nada. Assim, esperam vários minutos em silêncio, mas sem tensão. Nos últimos meses sentaram-se muitas vezes àquela mesa e abordaram todas as questões. Nunca tinham falado tanto. Onde está a raiva de adolescente, o bater de portas, a fúria muda que supostamente seria o rito de passagem de Theo? Terá tudo isso ficado submerso nos blues? Claro que falaram do Iraque, da América e do poder, da desconfiança europeia, do Islão - do seu sofrimento e pena de si mesmo, de Israel, da Palestina, dos ditadores, da democracia - e depois de coisas de rapazes: armas de destruição em massa, ogivas nucleares, fotografia por satélite, lasers, nanotecnologia. À mesa da cozinha, é este o menu do princípio do século XXI, os seus pratos do dia. Num domingo à noite, há não muito tempo, Theo veio com um aforismo: quanto maior é a escala em que pensamos, mais horrível é. Instado a explicar-se, disse: «Quando pensamos nos grandes temas, na situação política, no aquecimento global, na pobreza no mundo, é tudo terrível, nada melhora, não há nada a esperar. Mas quando pensamos em coisas mais pequenas, mais próximas de nós, como por exemplo uma rapariga que acabei de conhecer ou a canção que vamos tocar com o Chás ou em ir fazer snowboard no mês que vem, é tudo óptimo. Por isso, o meu lema vai ser 'pensa em coisas pequenas'.»
Recordando esta conversa, agora que faltam poucos minutos para as notícias, Henry pergunta:
- Que tal correu o concerto?
- Tocámos coisas básicas, para abanar o capacete, quase tudo do Jimmy Reed. Sabes, como aquela... - Canta, com um ênfase irónico, um boogie tocado com o baixo, com a mão esquerda a fechar-se e a abrir-se, como se estivesse inconscientemente a prender as cordas. - Adoraram. Não nos deixaram tocar mais nada. Por acaso foi um bocado deprimente, porque não é nada daquilo que nós queremos. - Mesmo assim, a recordação leva-o a fazer um sorriso rasgado.
Está na hora do noticiário. Mais uma vez, os impulsos de rádio, os sinais do sintetizador, o pivot sem sono e o seu maxilar a inspirar confiança. E lá está, finalmente real, o avião, inclinado sobre a pista, aparentemente intacto, rodeado de bombeiros ainda a espalharem espuma, soldados, polícias, luzes intermitentes e ambulâncias a postos. Antes da notícia, o elogio irrelevante à rápida resposta dos serviços de emergência. Só depois vem a explicação. É um avião de carga, um Tupolev russo em viagem de Riga para Birmingham. Quando já ia a leste de Londres, um dos motores começou a arder. A tripulação pediu autorização para aterrar e tentou interromper o abastecimento de combustível ao motor em chamas.
Viraram para oeste, ao longo do Tamisa, e foram guiados até Heathrow, onde aterraram bem. Os dois tripulantes saíram ilesos. A carga não foi especificada, mas uma parte - supostamente correio - ficou destruída. Depois, em segundo lugar, as manifestações contra a guerra a realizar dentro de poucas horas. Em terceiro lugar, Hans Blix, a figura do dia anterior.
Afinal o gato morto de Schrodinger está vivo.
Theo apanha o blusão do chão e levanta-se. Faz um trejeito.
- Afinal não foi um ataque ao nosso modo de vida.
- Um bom desfecho - concorda Henry. Apetece-lhe abraçar o filho, não só de alívio, mas por
ver como Theo se tornou um adulto adorável. O segredo foi deixar de estudar, fazer o que os pais não tiveram coragem para fazer, abandonar a escola e tomar conta da sua vida. Mas hoje em dia ele e Theo têm de estar separados pelo menos uma semana para se permitirem dar um abraço. Sempre fora uma criança que gostava do contacto físico. Aos treze anos, às vezes ainda dava a mão ao pai na rua. Mas isso ficou definitivamente para trás. Só Daisy lhe dá a hipótese de se despedir dela com um beijo à noite quando está em casa.
Quando Theo atravessa a cozinha, o pai pergunta-lhe:
- Então, vais à manifestação?
- Mais ou menos. Em espírito. Tenho de acabar uma canção.
- Dorme bem - diz Henry.
- Está bem. Tu também.
Ao sair, Theo diz-lhe «Então, boa noite» e, alguns segundos depois, quando já vai a subir a escada, diz «Até amanhã» e do cimo das escadas, com alguma hesitação e num tom de pergunta, «Boa noite?» Henry responde sempre e fica à espera de tornar a ouvi-lo. São as características diminuições de som de Theo, as três ou quatro ou até cinco investidas com que se despede, a superstição de que tem de ser ele a ter a última palavra. A mão dada a soltar-se lentamente.
Perowne tem a teoria de que o café pode ter um efeito paradoxal, e é isso que lhe parece pelos passos pesados com que anda pela cozinha a apagar as luzes; parece carregar não só o peso daquela noite interrompida, mas de toda a semana e das semanas antes daquela. Sente os joelhos e os quadríceps frágeis ao subir a escada, agarrado ao corrimão. Será assim quando tiver setenta anos. Atravessa o corredor, acalmado pelo contacto frio das lajes lisas sob os pés descalços. A caminho da escadaria principal, pára junto às duas portas de entrada. Dão directamente para o passeio, para a rua que vai até à praça, e o seu cansaço faz que subitamente se agigantem perante ele de uma forma estranha com todos os extras - três sólidas fechaduras Banham, duas trancas de ferro tão antigas como a casa, duas correntes de segurança de aço temperado, um ralo com uma tampa de latão, a caixa electrónica do sistema Entryphone, o botão vermelho para qualquer caso de emergência, o quadro do sistema de alarme com os seus dígitos com um brilho suave. Defesas, a fortaleza moderna: cuidado com os pobres da cidade, os drogados, os pura e simplesmente maus.
De novo na escuridão, de pé do seu lado da cama, deixa o roupão cair-lhe aos pés e tacteia às cegas o caminho por entre a roupa até junto da mulher. Está voltada sobre o lado esquerdo, de costas para ele, com os joelhos dobrados. Ele aninha-se na sua forma familiar, põe o braço sobre a cintura dela e chega-se mais a ela. Beija-lhe a nuca, e ela fala das profundezas do seu sono - o tom é acolhedor, grato, mas a sua única palavra indistinta não consegue soltar-se da sua língua, como se fosse demasiado pesada para ser levantada. Sente o calor do seu corpo através do pijama de seda, que lhe toca no tronco e nas virilhas. Ter subido aqueles três lanços de escadas reanimou-o, tem os olhos completamente abertos no escuro; o esforço, o aumento mínimo da sua pressão arterial está a provocar-lhe uma excitação local na retina, fazendo vários enxames espectrais vermelhos e de um verde iridescente vaguear pela sua visão de uma estepe infinita e depois enrolar-se sobre si próprios e transformar-se em peças de tecido, faixas de veludo grosso a serem recolhidas como panos de teatro que se abrem sobre uma nova cena, sobre novos pensamentos. Henry não quer pensar, mas está desperto. O seu dia sem trabalhar abre-se à sua frente, como um caminho na estepe; depois do jogo de squash, já perdido por causa da insónia, tem de ir visitar a mãe. O seu rosto, como ele é agora, escapa-lhe. Em vez disso vê a campeã local de natação de há quarenta anos - de quem se lembra por a ter visto em fotografias - com a touca de borracha às flores que lhe dava um ar de foca impaciente. Tinha orgulho nela, mesmo quando ela lhe atormentava a infância, arrastando-o em noites de Inverno para ruidosas piscinas municipais, onde no chão de cimento dos vestiários os pensos rápidos com manchas rosadas e encarniçadas marinavam em poças de água morna. Obrigava-o a entrar com ela em sinistros lagos verdes e nas águas cinzentas do mar do Norte antes da época. Era outro elemento, costumava ela dizer, à laia de explicação ou sedução. Um outro elemento era precisamente aquilo em que ele se opunha a mergulhar o seu corpo franzino e sardento. A divisão entre os elementos era o que mais lhe custava, a superfície hostil a marcar um corte doloroso na sua barriga arrepiada, corte esse que ia subindo à medida que ele avançava em bicos de pés, para lhe agradar, nas águas obscuras da costa do Essex no princípio de Junho. Nunca conseguira atirar-se, como ela se atirava, como queria que ele se atirasse. A submersão num outro elemento, todos os dias, fazendo de cada dia um dia especial, era o que ela queria e achava que ele devia fazer. Agora isso já não lhe custava, desde que o outro elemento não fosse água fria.
Sente o ar do quarto fresco nas narinas e sente uma certa excitação sexual ao chegar-se mais para Rosalind. Ouve os primeiros sons do tráfego incessante em Euston Road, como uma brisa a soprar por entre uma floresta de abetos. São pessoas que têm de estar no trabalho às seis da manhã de sábado. Pensar nisso não o faz sentir sono, como às vezes lhe acontece. Está a pensar em sexo. Se o mundo estivesse absolutamente sintonizado com as suas necessidades, naquele momento estaria a fazer amor com Rosalind, sem preliminares, com uma Rosalind cheia de desejo, e depois a entregar-se, de cabeça limpa, a um abandono que o levaria ao sono. Mas nem os reis despóticos, nem os deuses antigos podiam sonhar sempre com um mundo à sua conveniência. Só as crianças, ou melhor, só os bebés é que sentem um desejo e a sua satisfação ao mesmo tempo; talvez seja isso que dá aos tiranos o seu ar infantil. Querem voltar atrás para terem o que não podem ter. Quando se lhes depara uma frustração, a birra de matar uns quantos homens nunca está muito longe. Saddam, por exemplo, não parece apenas um homem grosseiro, com uma papada. Dá a impressão de ser um rapaz grande e desiludido, com um ar de cão atarracado e uns olhos escuros, algo incrédulos pelo que ainda não conseguiu ordenar. O poder absoluto e os seus prazeres estão à mão de semear e insistem em escapar-lhe. Tem consciência de que mandar mais um general adulador para as câmaras de tortura ou meter mais uma bala na cabeça de um familiar não vão dar-lhe a satisfação que outrora davam.
Perowne muda de posição e encosta o nariz à cabeça de Rosalind, inalando o cheiro suave do sabão perfumado misturado com o odor da pele quente e do cabelo lavado com champô. Que sorte a mulher que ama ser aquela com quem está casado. Mas com que rapidez passou do erotismo para Saddam - que faz parte de uma mescla de maus pressentimentos e preocupações, de um cozinhado com muitos ingredientes. Quem não dorme de madrugada faz um ninho com os seus próprios medos. Imaginar acontecimentos assustadores e esquemas para lhes escapar deve oferecer vantagens do ponto de vista da sobrevivência. Este truque dos pensamentos negros é um legado da selecção natural num mundo perigoso. Na última hora esteve num estado de profunda insensatez, numa loucura de excesso de interpretação. Não o consola pensar que qualquer pessoa que estivesse à janela em vez dele poderia ter chegado às mesmas conclusões. A incompreensão está generalizada a todo o mundo. Como podemos confiar em nós próprios? Vê agora os pormenores que ignorou quase por completo para alimentar os seus medos: o avião não se dirigia para nenhum edifício público, fazia uma descida regular e controlada, seguia por uma rota habitual - mas nada disto se ajustava ao mal-estar geral. Repetiu para si próprio que só havia dois desfechos possíveis: ou o gato estava vivo ou morto. Não era portanto nenhum ataque ao nosso modo de vida.
Meio consciente da presença dele, Rosalind muda de posição, roda levemente os ombros para ficar com as costas bem aninhadas no peito dele. Desliza o pé sobre o seu calcanhar e pousa a planta do pé sobre os seus dedos. Ainda mais excitado. Henry sente a sua erecção presa contra o fundo das costas dela e procura libertar-se com a mão. A respiração de Rosalind readquire o seu ritmo regular. Henry fica imóvel, à espera que o sono chegue. Pelos padrões actuais, ou melhor, por quaisquer padrões, é quase perverso ele nunca se fartar de fazer amor com Rosalind, nem nunca se ter sentido verdadeiramente tentado pelas oportunidades que lhe surgiram graças à lógica generosa da hierarquia médica. Quando pensa em sexo, pensa nela. Os seus olhos, os seus seios, a sua língua, a sua disponibilidade. Quem mais poderia fazer amor com ele com tanta sabedoria, com tanta ternura, com um humor tão traquina ou com a bagagem de um passado tão rico com ele?
Não bastaria uma vida para encontrar outra mulher com quem pudesse aprender a ser tão livre, a quem conseguisse dar prazer com tanto abandono e perícia. Por um qualquer traço de carácter, a familiaridade excita-o mais que a novidade sexual. Acha que deve ser uma espécie de entorpecimento, de deficiência ou de timidez que existe em si. Muitos dos seus amigos têm aventuras com mulheres mais novas e, de vez em quando, um casamento sólido explode num fogo cruzado de recriminações. Perowne assiste a esses casos com desconforto, temendo que lhe falte um qualquer elemento de força vital masculina, um desejo audacioso e saudável de novas experiências. Onde está a sua curiosidade? Que haverá de errado com ele? Mas não pode fazer nada. Quando detecta um olhar ocasional de interrogação de uma mulher atraente, reage com um sorriso brando e inexpressivo. É uma fidelidade que pode parecer virtude ou perseverança, mas que não é uma coisa nem outra, pois não tem de fazer escolha alguma. É isto que lhe está destinado: sentido de posse, sentido de pertença, repetição.
Foi uma calamidade - seguramente um ataque ao modo de vida dela - que trouxe Rosalind para a sua vida. A primeira vez que a vira fora de costas, quando estava na enfermaria de mulheres do serviço de neurologia num fim de tarde de Agosto. Uma cabeleira ruiva tão abundante - quase até à cintura - era surpreendente numa mulher tão pequena. Por momentos pensou que fosse uma criança grande. Estava sentada na beira da cama, ainda vestida, a falar com um médico, com a voz tensa de quem procura esconder o terror que sente. Perowne ainda ouviu uma parte da história quando parou junto deles e se informou do resto pelo processo dela. O seu estado de saúde era geralmente bom, mas no último ano tinha tido dores de cabeça de vez em quando. Tocou na cabeça para mostrar onde. Reparou que as suas mãos eram muito pequenas. O seu rosto era perfeitamente oval e os olhos grandes, de um verde pálido. Faltara-lhe o período algumas vezes e tinha um corrimento ocasional nos seios. Nessa tarde, quando estava na biblioteca do departamento de Direito do University College, a ler textos sobre delitos de natureza civil - fora específica quanto a isso -, a sua vista tinha começado, segundo ela disse, a vacilar. Ao fim de poucos minutos já não conseguia ver os números no relógio de pulso. Deixou os livros, pegou na mala e desceu a escada, agarrando-se com força ao corrimão. Ia a tentar desbravar o caminho até às urgências quando o dia começou a escurecer. Pensou que era um eclipse e achou estranho ninguém estar a olhar para o céu. O serviço de urgência tinha-a mandado imediatamente para ali, e agora já quase não conseguia ver as riscas da camisa do médico. Quando ele levantou a mão não conseguiu contar os dedos.
- Não quero ficar cega - disse baixinho, numa voz chocada. - Por favor, não me deixe ficar cega.
Como era possível que uns olhos tão grandes e tão límpidos perdessem a visão? Quando pediram a Henry que fosse chamar o especialista, que ninguém conseguia contactar pelo pager, sentiu-se excluído, o que lhe provocou uma certa angústia pouco profissional, e também uma sensação de que não podia correr o risco de deixar o médico - do tipo falinhas mansas - sozinho com um ser tão raro. Queria ser ele, Perowne, a fazer tudo para a salvar, apesar de ter apenas uma ideia muito embrionária de qual poderia ser o problema.
O especialista, Dr. Whaley, estava numa reunião importante. Era um homem de grande estatura, desajeitado, com um fato às riscas, com colete, um relógio de corrente e um lenço de seda vermelho a espreitar do bolso de cima. Perowne já vira muitas vezes ao longe aquela cabeça peculiar a reluzir nos corredores sombrios. A sua voz tonitruante era muito parodiada pelos médicos mais novos. Perowne pediu à secretária que entrasse e o interrompesse. Enquanto esperava, ensaiara mentalmente uma apresentação sucinta, desejoso de impressionar aquela personagem ilustre. Whiley saiu da sala e ouviu, com um olhar carrancudo, a descrição de Perowne das dores de cabeça de uma jovem de dezanove anos, da sua súbita incapacidade visual e da sua história de amenorreia e galactorreia.
- Por amor de Deus, rapaz. Ciclos menstruais irregulares e corrimento dos mamilos! - Pronunciara esta frase com a voz entrecortada de um locutor em tempo de guerra, ao mesmo tempo que percorria rapidamente o corredor, com o casaco debaixo do braço.
Trouxeram-lhe uma cadeira para se sentar de frente para a doente. Ao observar-lhe os olhos, a sua respiração acalmou. Perowne admirou o rosto pálido, belo e inteligente inclinado para cima, voltado para o especialista. Teria dado tudo para que ela o escutasse assim a ele. Desprovida de pistas visuais, tinha de confiar apenas nas nuances da voz de Whaley. O diagnóstico fora rápido.
- Bem, bem, jovem. Parece que tem um tumor na glândula pituitária, que é um órgão do tamanho de uma ervilha no centro do cérebro. Há uma hemorragia à volta do tumor que está a pressionar os nervos ópticos.
Por detrás da cabeça do especialista havia uma janela alta, e Rosalind deve ter conseguido distinguir o seu vulto, pois os seus olhos pareciam perscrutar o rosto do médico. Ficou vários segundos em silêncio e depois disse num tom de dúvida:
- Posso ficar cega.
- Não se atacarmos já.
Rosalind acenou com a cabeça em sinal de assentimento. Whaley deu instruções ao médico de que pedisse uma TAC para confirmar o diagnóstico antes de Rosalind ir para o bloco operatório. Depois inclinou-se para a frente e, com uma voz suave, quase terna, explicou-lhe que o tumor estava a produzir prolactina, uma hormona associada à gravidez, que estava a provocar as alterações dos ciclos menstruais e o aparecimento de leite nos seios. Tranquilizou-a, dizendo que o tumor era de certeza benigno e que estava convencido de que ela iria recuperar completamente. Tudo dependia de a acção deles ser rápida. Depois de um exame superficial aos seios para confirmar o diagnóstico - o ângulo de visão de Henry estava obstruído -, o Dr. Whaley pôs-se de pé e foi com um tom de voz alto, como se falasse em público, que foi dando instruções. Depois saiu, para ir reorganizar a sua tarde.
Henry acompanhou-a desde o serviço de radiologia até ao bloco operatório. Rosalind estava deitada na maca, muito angustiada. Ele estava naquele hospital apenas há quatro meses, e nem sequer conseguia fingir saber muito sobre a intervenção que ia ser feita. Ficou junto dela no corredor, à espera que chegasse o anestesista. Enquanto conversavam para ajudar a passar o tempo, ficou a saber que ela andava em Direito e não tinha quaisquer familiares por perto. O pai estava em França e a mãe já morrera. Tinha uma tia, de quem gostava muito, mas que vivia na Escócia, nas ilhas ocidentais. Rosalind tinha lágrimas nos olhos e debatia-se com emoções muito fortes. Quando conseguiu controlar a voz, apontou para um extintor de incêndios e disse-lhe que, como podia ser a última vez que via a cor vermelha, queria fixá-la. Pediu-Lhe que empurrasse a maca para mais perto do extintor. Já mal conseguia vê-lo. Henry disse-lhe que a operação seria, sem dúvida, bem sucedida. Mas claro que não sabia nada e, enquanto empurrava a maca, sentira a boca seca e os joelhos a tremer. Tinha de aprender a distanciar-se dos doentes. Pode ter sido naquele momento, e não mais tarde, na enfermaria, que começou a ficar apaixonado. As portas de vaivém abriram-se e eles entraram juntos na sala de operações, ele ao lado da maca que o maqueiro empurrava e ela a morder o lenço que tinha na mão e a olhar fixamente para o tecto, como se não pudesse desperdiçar os últimos pormenores.
A sua visão deteriorara-se repentinamente, na biblioteca, e agora estava sozinha e confrontada com grandes alterações. Acalmou-se respirando fundo várias vezes. Concentrou-se no rosto do anestesista enquanto ele lhe introduzia um cateter nas costas da mão e lhe administrava tiopentone. Depois adormeceu, e Perowne passou rapidamente à sala de desinfecção. Tinham-lhe dito que observasse atentamente aquela intervenção tão específica. Hipofisectomia transfenoidal. Um dia seria ele próprio a fazê-la. Mesmo agora, passados tantos anos, ainda tinha uma sensação de calma ao pensar como ela fora corajosa. E como as suas vidas tinham sido delineadas por aquela catástrofe de forma tão benigna.
Que mais fez o jovem Henry Perowne para ajudar aquela bela mulher com uma apoplexia da pituitária a recuperar a visão? Ajudou a mudar o seu corpo anestesiado da maca para a mesa de operações. Seguindo as instruções do médico, colocou os campos esterilizados sobre a doente, prendendo-os nos apoios dos pantoffs. Viu as três pontas de aço da fixação da cabeça serem ajustadas à cabeça de Rosalind. Guiado mais uma vez pelo médico, enquanto Whaley saiu da sala por um momento, limpou a boca de Rosalind com sabão anti-séptico e reparou na perfeição dos seus dentes. Mais tarde, depois de Whaley ter feito uma incisão na sua gengiva superior, de ter exposto as fossas nasais e ter limpo a mucosa nasal do septo. Henry ajudou a colocar em posição o enorme microscópio cirúrgico. Não havia monitor - a tecnologia de vídeo ainda era relativamente recente naquele tempo e ainda não fora instalada naquela sala. Henry viu Whaley avançar para o seio esfenóide, afastando a parede frontal. Depois dissecou cuidadosamente a base óssea da fossa pituitária, pondo a descoberto em menos de quarenta e cinco minutos a glândula vermelha e inchada no seu interior.
Perowne estudou atentamente o corte decisivo do bisturi cirúrgico e viu a massa escura e ocre do tumor, com a consistência de uma papa, desaparecer na ponta do aspirador manuseado por Whaley. Quando um líquido claro apareceu subitamente - fluido cerebrospinal -, o cirurgião decidiu retirar um pouco de gordura abdominal para fechar o leak. Fez uma pequena incisão transversal na parte inferior do abdómen de Rosalind e, com duas tesouras cirúrgicas, retirou um pouco de gordura subcutânea que colocou numa ebonite. O enxerto foi passado através do nariz com movimentos muito delicados, colocado no que restava do seio esfenóide e preso com packs nasais. A elegância de todo o procedimento parecia conter uma contradição brilhante: a solução era tão fácil como um trabalho de canalização, tão elementar como desentupir um cano - os nervos ópticos foram descomprimidos e a ameaça à visão de Rosalind desapareceu. No entanto, a abertura de uma via segura até àquela região remota e escondida da cabeça era uma obra de perícia técnica e de concentração. Entrar pelo rosto, retirar o tumor pelo nariz, trazer a doente de novo à vida, sem dor ou infecção, com a visão restabelecida, era um milagre do engenho humano. Aquele procedimento tinha atrás de si quase um século de insucessos e de sucessos parciais, de outras vias experimentadas e abandonadas e décadas de novas invenções, incluindo aquele microscópio e a iluminação de fibra óptica. Era um procedimento humano e ousado - o espírito da benevolência inspirado pela ousadia de um número de circo no arame. Até àquele momento, a intenção de Perowne de vir a ser neurocirurgião sempre fora um pouco teórica. Escolhera o cérebro porque ele era mais importante que a bexiga ou a articulação do joelho. Mas agora a sua ambição transformara-se num desejo profundo. Quando começou a sutura, e aquele rosto, aquele rosto particularmente belo, foi reconstruído sem uma única marca a desfigurá-lo. Henry sentiu uma enorme excitação em relação ao seu futuro e uma grande impaciência por aprender as técnicas necessárias. Estava a apaixonar-se por uma vida.
Claro que estava também a apaixonar-se. Eram duas coisas inseparáveis. No meio de tanto entusiasmo, sobrava-lhe ainda algum amor pelo mestre, o Dr. Whaley, pela sua figura enorme debruçada sobre as suas tarefas minuciosas e precisas, a respirar ruidosamente pelas narinas tapadas pela máscara. Mal se certificou de que tinha extraído o tumor e o coágulo, saiu da sala para ir ver outro doente. Deixou ao cuidado do médico o trabalho de reconstruir as belas feições de Rosalind.
Seria impróprio Henry tentar posicionar-se na sala do recobro para ser a primeira pessoa que Rosalind veria quando acordasse? Estaria de facto convencido de que, com as suas faculdades e o seu humor aninhados no colo suave da morfina, ela ia reparar nele e ficar encantada? Mas o anestesista e a sua equipa acabaram por afastar Perowne, dizendo-lhe que talvez fosse preciso noutro sítio. No entanto, ele fora-se deixando ficar e estava por detrás dela, a pouco mais de um metro da sua cabeça, quando ela começou a mexer-se. Conseguiu, pelo menos, ver os seus olhos abertos e o seu rosto imóvel, enquanto tentava recordar o seu lugar na história da sua existência e o seu sorriso cauteloso e dorido quando começou a aperceber-se de que estava a recuperar a visão. Ainda não era perfeita, mas sê-lo-ia dentro de poucas horas.
Alguns dias depois conseguiu ser verdadeiramente útil, quando lhe tirou os pontos do lábio superior e ajudou a tirar o packing nasal. Quando acabava o seu turno, deixava-se ficar para poder conversar com ela. Tinha a aparência de uma pessoa isolada, com uma cor pálida por tudo o que tinha passado, encostada às almofadas, rodeada por gordos manuais de Direito e com o cabelo em duas enormes tranças, que lhe davam um ar de menina da escola. As suas únicas visitas eram as duas atenciosas raparigas com quem partilhava o apartamento. Como lhe custava falar, tinha de beber água por uma palhinha, entre as frases. Contou-lhe que a mãe morrera num acidente de automóvel três anos antes, tinha ela dezasseis anos, e que o pai era o famoso poeta John Grammaticus, que vivia numa espécie de retiro num castelo perto dos Pirenéus. Para avivar a memória de Henry, Rosalind mencionara «Monte Fuji», o poema que vinha em todas as antologias escolares. Mas não se importou muito por ele nunca ter ouvido falar nem do poema nem do autor. Também não se importou por os antecedentes de Henry serem menos exóticos - uma rua imutável dos arredores de Perivale e filho único de um pai de quem não se lembrava.
Quando finalmente o seu caso de amor começou, alguns meses depois, já passava da meia-noite, no camarote de um ferry para Bilbau, numa noite ventosa de Inverno, ela brincou com ele pela sua «longa e brilhante campanha de sedução». Disse-lhe também que fora uma obra-prima de dissimulação. Mas o ritmo e a forma eram definidos por ela. Desde muito cedo que Henry se apercebeu de como seria fácil ela afastar-se. O seu isolamento não se limitava à enfermaria. Estava sempre presente, era uma cautela que coarctava a espontaneidade, que baixava o nível de excitação. Mantinha uma espécie de tampa sobre a sua juventude. Podia ficar entusiasmada por uma proposta súbita de um piquenique, pela chegada não anunciada de uma velha amiga, por dois bilhetes grátis para o teatro nessa mesma noite. Podia até acabar por dizer que sim às três coisas, mas a primeira reacção era sempre um retraimento, um franzir de sobrancelhas escondido. Naquele tempo sentia-se mais segura com os seus livros de Direito, no muito estudado e há muito encerrado caso de Donoghue versus Stevenson. Essa falta de confiança na vida estender-se-ia infalivelmente a ele se desse qualquer passo em falso. Além disso estavam em causa duas mulheres, e para merecer a confiança da filha teria de conhecer e de gostar de tudo na mãe dela. Também teria de cortejar esse fantasma.
Marianne Grammaticus era menos chorada que constantemente referida. Era uma presença que refreava constantemente a sua filha, que não só a vigiava, mas também estava ao lado dela a vigiar os outros. Era esse o segredo da natureza íntima e da circunspecção de Rosalind. A sua morte fora uma coisa de tal modo sem sentido que era difícil acreditar que tivesse acontecido - um condutor embriagado que passara um sinal vermelho perto de Victoria Station a altas horas da noite - e, passados três anos, Rosalind continuava de certa forma a não a aceitar. Mantinha um contacto silencioso com uma amiga íntima imaginária. Tudo servia para fazer uma referência à mãe, a quem sempre tratara pelo primeiro nome, mesmo em criança. Falava muito dela a Henry, muitas vezes mencionando-a de passagem e fantasiando sobre as suas reacções. Marianne teria adorado, poderia por exemplo Rosalind dizer de um filme que acabavam de ver e de que tinham gostado. Ou então que fora Marianne que a ensinara a fazer uma certa sopa de cebola, que nunca ficava tão boa como a dela. Ou então, referindo-se à invasão das ilhas Falkland: o mais engraçado é que ela não teria sido contra a invasão. Ela odiava Galtieri. Quando já eram amigos há algumas semanas - uma amizade afectuosa, fisicamente reprimida, de facto não era mais do que isso -, Henry atreveu-se a perguntar a Rosalind qual teria sido a opinião da sua mãe sobre ele. Ela respondeu sem hesitar: «Ter-te-ia adorado.» Ele atribuiu grande significado a isso e nessa noite beijou-a com uma liberdade que não era habitual. Ela correspondeu o suficiente, mas sem se abandonar, e durante quase uma semana esteve todas as noites demasiado ocupada para poder encontrar-se com ele. A solidão e o trabalho eram menos ameaçadores para o seu mundo interior do que os beijos. Henry começou a perceber que estava numa competição. Dada a natureza das coisas, era infalível que ganhasse, mas teria de avançar ao ritmo antiquado de um lémure preguiçoso.
No oscilante camarote do ferry, a questão foi finalmente consumada num beliche estreito. Não foi fácil para Rosalind. Para o amar, tinha de começar a abrir mão da sua amiga sempre presente, da sua mãe. De manhã, quando acordou e se lembrou da linha que ultrapassara, chorou - tanto de alegria como de tristeza, repetiu diversas vezes, sem conseguir convencê-lo. A felicidade parecia uma traição aos princípios, mas ao mesmo tempo era inevitável.
Foram para a coberta ver o nascer do dia sobre o porto. Era um mundo duro e estranho. As bátegas de água fustigavam os prédios baixos de cimento e eram empurradas contra as gruas cinzentas por um vento agreste que gemia por entre os cabos de aço. Na doca, onde se tinham formado várias poças de água, via-se a figura solitária de um idoso a tentar pôr uma pesada corda sobre um pegão. Usava um blusão de cabedal sobre uma camisa com alguns botões desabotoados. Na boca tinha um cigarro apagado. Quando acabou dirigiu-se lentamente para o barracão da alfândega, imune ao tempo. Henry e Rosalind fugiram ao frio e desceram as muitas escadas até às profundezas pegajosas do navio, tornaram a fazer amor no beliche estreito, deixando-se depois ficar imóveis a ouvir nos altifalantes do navio o anúncio de que os passageiros sem carro deviam desembarcar imediatamente. Ela tornou a chorar e disse-lhe que ultimamente deixara de conseguir ouvir a tonalidade especial da voz da mãe. Seria uma longa despedida. A sua sombra estaria presente em muitos momentos bons como aquele. Naquele dia, quando estavam deitados com os braços à volta um do outro a ouvir o andar apressado e os chamamentos abafados dos passageiros nos corredores, Henry teve consciência da seriedade do que estava a começar. Para se intrometer entre Rosalind e o fantasma da sua mãe teria de assumir responsabilidades. Tinham assumido um contrato não verbalizado. Dito de uma forma mais directa, fazer amor com Rosalind implicava casar com ela. No seu lugar, qualquer homem razoável podia entrar em pânico com a seriedade da situação, mas a simplicidade do processo impediu Henry Perowne de sentir outra coisa que não um enorme prazer.
Aqui está ela, quase um quarto de século depois, a começar a agitar-se nos braços dele, a dormir, mas de certa forma consciente de que o seu despertador está prestes a tocar. O nascer do Sol - geralmente um acontecimento no campo, mas nas cidades uma mera abstracção - ainda está a hora e meia de distância. O apetite da cidade por trabalhar ao sábado é muito forte. Às seis da manhã, Euston Road já está em plena actividade. Neste preciso momento, o som de algumas motas, que guincham como serras de madeira, eleva-se acima do barulho geral. Também é nesta altura que se ouve o primeiro coro de sirenes da polícia, a subir e a descer de acordo com o efeito de Doppler: já não é cedo de mais para as coisas más. Por fim, Rosalind volta-se de frente para ele. Este lado do corpo humano exala um calor comunicativo. Quando se beijam, ele imagina os olhos verdes a procurarem os seus. Aquele ciclo banal de adormecer e acordar no escuro, por baixo da roupa, com outro ser, um mamífero pálido, suave e terno, de faces encostadas num ritual de afecto, sedimentado por breves instantes nas necessidades eternas de ternura, consolo, segurança, de membros entrelaçados para estarem mais próximos - uma simples consolação diária, quase demasiado óbvia, fácil de esquecer com a luz do dia. Será que alguma vez foi descrito por um poeta? Não uma ocasião em particular, mas a sua repetição ao longo dos anos. Tem de perguntar à filha.
- Tenho a impressão que passaste toda a noite a deitar-te e a levantar-te - diz Rosalind.
- Fui lá abaixo às quatro da manhã e estive sentado a conversar com o Theo.
- E ele está bom?
- Está.
Não é a altura própria para lhe falar do avião, sobretudo agora que a sua importância já esmoreceu. Quanto ao seu episódio de euforia, não se sente naquele momento com imaginação suficiente para o descrever. Fá-lo-á mais tarde. Ela está a acordar no momento em que ele está a adormecer. Mas a sua erecção mantém-se, como se estivesse a encher o peito de ar, a ficar cada vez mais retesado, sem expirar. Pode ser a exaustão que está a torná-lo mais sensível. Ou uma abstinência de cinco dias. Mesmo assim, há qualquer coisa de familiar na forma como ela o abraça e se chega mais para ele, brindando-o com um corpo excessivamente quente. Não se sente em forma para tomar a iniciativa, preferindo contar com a sua sorte ou com as necessidades dela. Se não acontecer, paciência. Nada o impedirá de adormecer.
Ela beija-lhe o nariz.
- Vou tentar ir buscar o meu pai assim que sair do trabalho. A Daisy chega de Paris às sete. Vais lá?
- Hum.
Daisy: sensual, intelectual, pequenina, pálida e correcta. Que outra estudante e aspirante a poeta usa fatos de casaco e minissaia com blusas brancas frescas, raramente bebe e trabalha melhor antes das nove da manhã? A sua menina, a escapar-se-lhe por entre os dedos e a transformar-se numa mulher eficiente em Paris, irá publicar o seu primeiro livro de poemas em Maio. E não por uma editora qualquer, mas por uma venerável instituição de Queen Square, em frente do hospital onde ele fechou o primeiro aneurisma. Até o seu mal-humorado avô, com uma intolerância profunda à escrita contemporânea, lhe mandou uma carta quase ilegível lá do seu castelo, que ao ser decifrada se revelou arrebatadora. Perowne, que não sabe julgar aquelas coisas e está obviamente satisfeito por ela, tem sofrido com os versos de amor, com o facto de ela conhecer tão bem os corpos de homens que ele nunca conheceu ou sonhar com eles de forma tão vivida.
Quem será o cretino cuja tumescência parece um «regador excitado» a aproximar-se de uma «rosa peculiar»? Ou o outro que canta no duche «como Caruso» enquanto ensaboa «ambas as barbas»? Tem de reflectir sobre aquela indignação, que dificilmente poderá considerar-se uma reacção literária. Tem tentado sacudir o sentimento de posse de pai e ver os poemas apenas como poemas. Já gosta dos menos pesados, mas não esquece o verso sinistro de um outro poema que observa «como cada rosa cresceu sobre uma haste infestada de tubarões». A jovem pálida das rosas já não está em casa há muito tempo. A sua chegada é um oásis ao fim do dia.
- Amo-te.
Não é apenas uma expressão de afecto, pois ao mesmo tempo Rosalind estende o braço para baixo e apodera-se dele e, sem o soltar, estende o outro braço para trás para desligar o despertador, num gesto desajeitado que lança tremores de músculos através do colchão.
- Fico feliz por isso. Beijam-se, e ela diz:
- Já estou meio acordada há algum tempo e tenho estado a sentir-te cada vez mais duro nas minhas costas.
- E que tal?
- Fez-me desejar-te - sussurra Rosalind. - Mas não tenho muito tempo. Não me atrevo a chegar atrasada.
Tanta sedução tão sem esforço! Vendo o seu desejo realizado, sem ter de levantar um dedo, fazendo inveja aos deuses e aos déspotas, Henry acorda da sua letargia e beija-a com intensidade. Sim, ela está pronta. E é assim que acaba a sua noite e começa o seu dia, às seis da manhã, perguntando a si próprio se todas as essências do compromisso matrimonial terão convergido num único momento: no escuro, na posição do missionário, à pressa, sem preâmbulo. Mas isto é apenas o lado exterior do acontecimento. Aquele momento libertou-o de todos os pensamentos, da memória, dos segundos que passam e do estado do mundo. O sexo é um meio de comunicação diferente, refractor do tempo e do sentido, um hiper-espaço biológico tão distante da existência consciente como os sonhos, ou como a água do ar. Como costumava dizer a sua mãe, é um outro elemento; o dia muda. Henry, assim que deres umas braçadas. E esse dia terá forçosamente de ser diferente de todos os outros.
Há grandiosidade nesta visão da vida. Acorda, ou acha que acorda, ao som do secador de cabelo de Rosalind e de uma voz que murmura repetidamente uma frase. Mais tarde, depois de adormecer outra vez, ouve o ruído surdo da porta do roupeiro a abrir-se, do enorme roupeiro metido na parede, um dos dois da casa, com luzes automáticas e um interior complexo de folheado lacado e recantos fundos e perfumados; mais tarde ainda, enquanto ela atravessa o quarto de um lado para o outro, descalça, ouve o murmúrio sedoso da sua combinação, de certeza a preta com desenhos de túlipas que ele lhe trouxe de Milão; depois a pancada leve dos saltos das botas no chão de mármore da casa de banho, quando faz os preparativos finais em frente do espelho, pondo perfume e escovando o cabelo. E durante todo esse tempo o rádio de plástico em forma de golfinho azul, preso por ventosas aos azulejos do fundo da banheira, repete a mesma frase, até que Henry começa a detectar um sentido religioso, à medida que o seu significado se vai intensificando - há grandiosidade nesta visão da vida, repete uma e outra vez.
Há grandiosidade nesta visão da vida. Quando acorda verdadeiramente, duas horas mais tarde, Rosalind já saiu e o quarto está em silêncio. Há uma coluna estreita de luz na direcção de uma portada aberta. O dia parece-lhe intensamente branco.
Afasta a roupa e fica deitado de costas no lado dela, nu por entre o calor do aquecimento central, à espera de conseguir localizar a frase. Darwin, claro, da leitura da noite anterior na banheira, no último parágrafo da sua grande obra, que Perowne de facto nunca leu. O bondoso e determinado Charles, enfermo, com toda a sua humildade, a convocar as minhocas e os ciclos planetários para o ajudarem numa vénia de despedida. Para suavizar a mensagem, também convocou o Criador, mas o seu coração não estava nesse chamamento, e ele abandonou-O em edições posteriores. Aquelas quinhentas páginas mereciam uma única conclusão: um número interminável de belas formas de vida, como as que se vêem em qualquer sebe comum, incluindo seres superiores como nós próprios, surgiram de leis da física, da guerra da natureza, da fome e da morte. É esta a grandiosidade. E uma consolação estimulante no breve privilégio da consciência.
Uma vez, quando passeavam junto a um rio -o Eskdale, sob a luz avermelhada de um Sol já baixo e sobre uma camada fina de neve-, a filha citara-lhe um verso que abria um dos poemas do seu poeta preferido. Aparentemente, não havia muitas jovens que gostassem tanto de Philip Larkin como ela. «Se fosse chamado/ A construir uma religião/ Recorreria à água.» Disse que gostava particularmente daquele lacónico «fosse chamado» - como se ele pudesse ser, como se alguém fosse. Pararam para beber café de um termo, e Perowne, abrindo uma linha por entre os líquenes com um dedo, disse que, se alguma vez fosse chamado, recorreria à evolução. Haveria melhor mito da criação? Um período inimaginável, inúmeras gerações a criar por passos infinitesimais seres vivos belíssimos e complexos a partir de matéria inerte, impelidas pela fúria cega da mutação aleatória, da selecção natural e das alterações ambientais, com a tragédia das formas permanentemente a morrerem e, por fim, com a maravilha do aparecimento das mentes e, com elas, da moral, do amor, da arte, das cidades - e o bónus nunca visto desta história que por acaso pode demonstrar-se ser verdadeira.
No fim desta récita, não inteiramente jocosa - estavam sobre uma ponte de pedra no ponto de união de dois cursos de água -, Daisy deu uma gargalhada e pousou a chávena para aplaudir.
- Isso é religião da mais antiga e genuína, quando dizes que por acaso pode demonstrar-se ser verdadeira.
Tem sentido a falta de Daisy nos últimos meses, mas ela está prestes a chegar. Surpreendentemente, tendo em atenção que é sábado, Theo prometeu ficar em casa à noite, pelo menos até às onze horas. Está a pensar fazer sopa de peixe. A ida à peixaria é uma das tarefas mais fáceis que tem pela frente: peixe-anjo, amêijoas, mexilhão, camarões descascados. É esta lista prática, aqueles produtos salgados, que o faz sair finalmente da cama e dirigir-se à casa de banho. É uma imagem vergonhosa para um homem sentar-se a urinar, porque as mulheres é que o fazem. Calma! Senta-se, sentindo os últimos farrapos de sono dissolverem-se à medida que a urina vai caindo sobre as paredes da sanita. Tenta localizar outra fonte de vergonha, ou de culpa, ou de algo mais suave, como a recordação de um momento embaraçoso ou de uma patetice. Ainda há poucos minutos lhe passou pela mente qualquer coisa do género, e agora só lhe resta a sensação, mas sem a base racional. Uma sensação de ter agido ou falado de uma forma risível. Ou de ter sido idiota. Como não consegue lembrar-se, também não consegue convencer-se a pensar noutra coisa. Mas que interessa isso? São finas camadas de sono que ainda estão a torná-lo lento - imagina-as parecidas com a aracnóide, o tecido muito fino que envolve o cérebro e que ele costuma cortar. A grandiosidade. A frase deve ter sido uma alucinação provocada pelo zumbido do secador; deve tê-la confundido com o noticiário na telefonia. É o luxo de estar meio adormecido, a explorar as franjas da psicose em segurança. Mas quando sentiu o ar ao dirigir-se para a janela na noite anterior estava completamente acordado. Ainda está mais certo disso agora.
Levanta-se e puxa o autoclismo. Pelo menos uma molécula dos seus dejectos cairá em cima dele um dia, sob a forma de chuva, de acordo com um artigo ridículo que leu numa revista que estava na sala do café do bloco operatório. É o que dizem os números, mas as probabilidades estatísticas não são o mesmo que verdades. Havemos de voltar a encontrar-nos, só não sei onde, nem quando. Trauteando aquela canção do tempo da guerra, atravessou o chão de mármore verde e branco até ao lavatório para fazer a barba. Sente-se incompleto sem aquele ritual matinal, mesmo num dia de folga. Devia aprender com Theo a deixar andar. Mas Henry gosta da taça de madeira, do pincel de pêlos de esquilo, da extravagância que é a gilete descartável de três lâminas, com uma pega inteligentemente arqueada e não completamente lisa, verde-escura. Passar aquela pérola industrial sobre uma carne que lhe é familiar aguça-lhe as ideias. Devia consultar o que William James escreveu sobre esquecer uma palavra ou um nome, deixando uma forma vazia, atormentadora, que quase define a ideia que outrora conteve, sem contudo o fazer. Mesmo no momento em que estamos a debater-nos com o torpor de uma memória fraca, sabemos exactamente o que a coisa de que nos esquecemos não é. James teve o dom de fixar os lugares-comuns mais surpreendentes - e, na humilde opinião de Perowne, escreveu uma prosa muito melhor que o seu atabalhoado irmão, que preferia dar doze voltas diferentes a uma coisa a chamá-la pelo nome. Daisy, o árbitro da sua educação literária, nunca concordaria. Ainda no liceu, escrevera um longo ensaio sobre os últimos romances de Henry James e sabia até de cor um passo de The Golden Bowl. Também sabe de cor dezenas de poemas que aprendeu no início da adolescência - um meio de ganhar uns trocos do avô.
A sua formação foi tão diferente da do pai... Não admira que gostem tanto das suas discussões. Daisy sabe tanta coisa! Por sugestão dela, tentou ler aquele sobre a menina que sofre com o terrível divórcio dos pais. Um tema promissor, mas a pobre Maisie desapareceu rapidamente por detrás de uma nuvem de palavras e, na página quarenta e oito, Perowne, que consegue estar de pé sete horas seguidas a fazer uma operação difícil e que se inscreveu na maratona de Londres, adormeceu, exausto. Até a história da homónima da sua filha o deixou confuso. O que é que um adulto pode concluir ou sentir sobre o previsível declínio de Daisy Miller? Que o mundo pode ser cruel? Não chega. Debruça-se para tornar a enxaguar a cara. Talvez esteja a ficar parecido com Darwin, pelo menos neste aspecto, pois nos últimos anos da sua vida considerou Shakespeare maçador até à náusea. Perowne está a contar com Daisy para refinar a sua sensibilidade.
Finalmente acordado por completo, volta ao quarto, subitamente impaciente por se vestir e se ver livre dos vários entraves do quarto, do sono, da insónia, dos pensamentos arrebatados, até do sexo. A cama desfeita, com o seu ar decadente, pornográfico, contém todos estes elementos. A ausência de desejo clarifica a mente. Ainda nu, endireita rapidamente a roupa, apanha algumas almofadas do chão e atira-as para junto da cabeceira e dirige-se depois ao quarto de vestir, ao canto onde está guardada a sua roupa de desporto. São os pequenos prazeres do início de uma manhã de sábado - a promessa de um café e o desbotado equipamento de squash. Daisy, que se veste muito bem, diz com ternura que é o seu fato de espantalho. Os calções azuis têm manchas brancas deixadas pelo suor, que já não saem. Por cima de uma t-shirt cinzenta veste uma velha camisola de caxemira com buracos da traça de um lado ao outro. Por cima dos calções usa umas calças de fato de treino apertadas na cintura com uma corda de merceeiro.
As meias brancas de turco já a picar com uma risca amarela e outra cor-de-rosa têm qualquer coisa de roupa de creche. Ao abri-las sente o perfume agradável da roupa lavada. Os ténis de squash têm um cheiro intenso, uma mistura de pele sintética e de pele de animal, que lhe faz lembrar o court, as paredes brancas imaculadas e as linhas vermelhas, as regras indiscutíveis do combate de gladiadores, e o resultado.
É inútil fingir que o resultado não interessa. Na semana passada foi Jay Strauss quem ganhou, mas, ao atravessar o quarto com um passo almofadado e saltitante, Henry sente que hoje vai ser ele a ganhar. Lembra-se de ter feito aquele mesmo trajecto de noite e, ao abrir as mesmas portadas, quase recupera a sua loucura, já meio perdida na sua memória, mas que é instantaneamente dissipada pelo jorro de luz do Sol baixo de Inverno que entra no quarto e pelo seu súbito interesse pelo que está a acontecer na praça.
À primeira vista parecem duas raparigas à beira dos vinte anos, magras e de rostos pálidos e delicados, pouco vestidas para Fevereiro. Podiam ser irmãs, encostadas às grades do jardim central, indiferentes a quem passa, entregues ao seu próprio drama familiar. Depois Perowne conclui que a figura que está de frente para ele é de um rapaz. É difícil dizer porque tem um capacete de bicicleta debaixo do qual sai uma farta cabeleira castanha encaracolada. Perowne fica convencido pela postura, pela forma como os seus pés estão afastados, pela espessura do pulso quando pousa a mão no ombro da rapariga. Ela sacode os ombros para que ele tire a mão. Está agitada e a chorar, e os seus movimentos são incertos - levanta as mãos para tapar a cara, mas, quando o rapaz se aproxima para a puxar para ele, começa a bater-lhe em vão no peito, como uma heroína de um filme antigo de Hollywood. Volta-lhe as costas, mas não se vai embora. Perowne julga ver na cara dela resquícios do delicado rosto oval da sua filha, o nariz pequenino e o queixo de gnomo. Depois de fazer esta ligação começa a observar mais atentamente. Quer o rapaz, mas odeia-o. O olhar dele é selvagem, acicatado pela fome. Será dirigido a ela? Não a deixa ir-se embora e está sempre a falar, a aliciá-la, a convencê-la com carícias, a tentar acalmá-la. Ela tacteia repetidamente as costas para meter a mão debaixo da t-shirt e coçar-se com força. Fá-lo compulsivamente, mesmo quando está a chorar e a afastar o rapaz com alguma indiferença. Formigueiro causado pelas anfetaminas - formigas imaginárias que rastejam pelas suas artérias e veias, uma comichão que não pode ser vencida. Ou então uma reacção histamínica exógena induzida pelos opiáceos, frequente entre os novos consumidores. A palidez e a exuberância emocional são reveladoras. São toxicodependentes, de certeza absoluta. Será afinal uma compra falhada e não um problema familiar que está por detrás da angústia dela e das tentativas vãs do rapaz de a reconfortar.
As pessoas vêm muitas vezes à praça dar largas aos seus dramas. É óbvio que uma rua não chega. As paixões precisam de espaço, da vastidão atenta de um teatro. A outra escala, pensa Perowne, arrastado agora pela luz do Sol e por um novo dia para a sua preocupação habitual, talvez seja esta a atracção do deserto iraquiano - a paisagem plana e supostamente vazia na qual é possível dar largas a uma fúria de proporções gigantescas. Dizem que um deserto é o sonho de um estratego militar. A praça de uma cidade é o equivalente numa dimensão privada. No domingo anterior um rapaz passou duas horas a andar de um lado para o outro da praça, a gritar ao telemóvel, com a voz a definhar de cada vez que seguia em direcção a sul e a subir de intensidade, na escuridão do fim da tarde, quando ia em sentido contrário. Na manhã seguinte, quando ia para o trabalho, Perowne viu uma mulher arrancar o telemóvel ao marido e desfazê-lo no passeio. No mesmo mês, houve um indivíduo de fato escuro de joelhos, de chapéu de chuva ao seu lado, aparentemente com a cabeça presa nas grades do jardim, mas na realidade agarrado a elas a soluçar. A velha com a garrafa de uísque nunca conseguiria nada com os seus gritos e guinchos na estreiteza de uma rua, nem que o fizesse durante três horas a fio. O aspecto público da rua garante privacidade a estes dramas íntimos. Há casais que vão para ali conversar ou chorar baixinho, sentados nos bancos. Emergindo de pequenos quartos em casas da câmara ou de estreitas ruelas para uma visão mais ampla do generoso céu e dos enormes plátanos, para uma visão de espaço e crescimento, as pessoas lembram-se das suas necessidades essenciais e de que continuam por satisfazer.
Mas também há ali muita felicidade. Perowne pode vê-la neste preciso instante, do outro lado da praça, junto à pensão indiana, quando vai abrir as outras portadas e o quarto é inundado de luz. Reina uma enorme excitação desse lado da praça. Dois jovens asiáticos de fato de treino, que ele reconhece do quiosque de Warren Street, estão a descarregar uma carrinha para um carro de mão que está no passeio, sobre o qual se encontra já uma enorme pilha de painéis, faixas dobradas, cartões com pins, apitos, cornetas, chapéus cómicos e máscaras de borracha de políticos - Bush e Blair em montes instáveis, com as caras ao de cima voltadas para o céu com um olhar vazio e com uma cor branca espectral dada pela luz do Sol. Gower Street, a alguns metros para leste, é um dos sítios de onde partirá a manifestação, e o movimento já chega ali. Há uma pequena multidão à volta do carro de mão a querer comprar coisas antes de os vendedores estarem preparados. Perowne não consegue compreender toda aquela alegria. Há famílias inteiras, uma com quatro filhos, com casacos vermelhos de vários tamanhos, aos quais foram visivelmente dadas instruções para se manterem de mãos dadas; e estudantes, e um autocarro cheio de senhoras grisalhas de impermeáveis de xadrez e sapatos resistentes.
Talvez do Instituto das Mulheres. Um dos homens de fato de treino levanta as mãos, fingindo render-se, enquanto o amigo faz a primeira venda, de pé na parte de trás da carrinha. Expulsos pela agitação, os pombos da praça levantam voo, dão várias voltas e mergulham em formação. À espera deles cá em baixo, sentado num banco ao lado de um caixote do lixo, está um homem a tremer, de rosto vermelho, embrulhado num cobertor cinzento, com uma fatia de pão pronta para eles no colo. Para os filhos de Perowne, «dar de comer aos pombos» é sinónimo de ser deficiente mental. Por detrás da multidão que rodeia o carro de mão está um grupo de jovens, de blusões de cabedal e cabelo rapado, a presenciar a cena com um sorriso tolerante. Já desenrolaram a sua faixa, que proclama simplesmente «Queremos paz e não slogans!»
A cena faz pensar na inocência e na excentricidade inglesa. Perowne, vestido para o combate no court, imagina-se como Saddam, a supervisionar a multidão com satisfação da varanda de um qualquer ministério de Bagdade: os bondosos eleitorados das democracias ocidentais nunca autorizarão os seus governos a atacarem o seu país. Mas está enganado. A única coisa que Perowne acha que sabe sobre esta guerra é que vai acontecer. Com ou sem as Nações Unidas. As tropas já estão no terreno, vão ter de combater. Desde que tratou um professor de história antiga iraquiano de um aneurisma e viu as cicatrizes das torturas de que fora vítima e ouviu as suas histórias, Perowne ficou com ideias ambivalentes ou confusas e volúveis em relação à invasão. Miri Taleb tem quase setenta anos, é um homem de pequena estatura, quase feminina, e com um riso nervoso, uma risadinha plangente que pode ter alguma coisa a ver com o tempo que passou na prisão. Fez o doutoramento no University College de Londres e o seu inglês é excelente. A sua área é a civilização suméria, e durante mais de vinte anos deu aulas na Universidade de Bagdade e participou em diversas escavações arqueológicas na zona do Eufrates. Foi preso em 1994, numa tarde de Inverno, à porta da sala em que ia dar aulas. Os alunos estavam à espera dele lá dentro e não viram o que aconteceu. Três homens aproximaram-se dele, mostraram-lhe os crachás da segurança e pediram-Lhe que os acompanhasse ao carro. Aí chegados, algemaram-no, e foi nesse momento que começou a ser torturado. As algemas estavam tão apertadas que durante dezasseis horas, até lhas tirarem, não conseguiu pensar em mais nada senão na dor que sentia. Ficou com lesões permanentes nos dois ombros. Nos dez meses seguintes foi transferido de prisão para prisão no centro do Iraque. Não fazia a menor ideia do que significavam aquelas mudanças e não tinha qualquer hipótese de avisar a mulher de que ainda estava vivo. Nem mesmo no dia em que foi libertado conseguiu descobrir de que era acusado.
Perowne ouviu a história do professor no seu consultório e falou com ele mais tarde, na enfermaria, depois da operação - que felizmente foi um sucesso. Taleb tinha um aspecto pouco comum para um homem quase com setenta anos - uma pele suave como a de um bebé, umas pestanas enormes e um bigode preto muito cuidado, de certeza pintado. No Iraque não tinha qualquer envolvimento nem interesse na política e recusou aderir ao Partido Baas. Pode ter sido essa a causa dos seus problemas. Também pode ter sido o facto de um dos primos da sua mulher, morto há muito, ter pertencido ao Partido Comunista ou de um outro primo ter recebido uma carta do Irão, de um amigo que estava lá exilado por supostamente ser de ascendência iraniana; ou ainda por o marido de uma sobrinha se ter recusado a voltar ao Iraque quando foi dar aulas para o Canadá. Outra razão possível era o professor ter ido à Turquia como consultor de uma escavação arqueológica. Não ficou particularmente surpreendido por ter sido preso, e a sua mulher também não deve ter ficado. Ambos conheciam, toda a gente conhecia, alguém que fora preso, torturado e depois libertado. De repente as pessoas apareciam outra vez no trabalho, não falavam do que lhes acontecera e ninguém se atrevia a perguntar - havia demasiados informadores, e a curiosidade em excesso era motivo suficiente para ir parar à prisão. Havia quem voltasse em caixões selados, que era estritamente proibido abrir. Era frequente ouvir contar que amigos e conhecidos tinham andado pelos hospitais, pelas esquadras da polícia e pelos departamentos oficiais a perguntar por pessoas desaparecidas.
Miri estivera sempre em celas fétidas, sem ventilação, com vinte e cinco homens apinhados num espaço de um metro e oitenta por três metros. E quem eram esses homens? O professor riu-se com tristeza. Não a previsível combinação de criminosos de delito comum e de intelectuais. Eram sobretudo pessoas vulgares, presas por não terem a matrícula do carro bem visível ou por terem discutido com um homem que afinal era funcionário do Partido, ou porque os filhos tinham sido aliciados na escola a reproduzir as críticas que os pais faziam a Saddam durante o jantar. Ou porque se tinham recusado a entrar para o Partido numa das muitas campanhas de recrutamento. Outro crime comum era ter um familiar acusado de ter desertado do exército.
Nas celas também havia seguranças e polícias. Os diversos serviços de segurança viviam num estado de competição permanente e nervosa uns com os outros, e os agentes tinham de trabalhar cada vez mais arduamente para mostrarem como eram diligentes. A suspeita podia recair sobre serviços inteiros de segurança. A tortura era uma prática de rotina - Miri e os companheiros ouviam os gritos na sua cela, enquanto esperavam para serem chamados. Espancamentos, electrochoques, sodomização, ameaças de afogamento, golpes nas plantas dos pés. Toda a gente, dos funcionários de topo aos varredores de rua, vivia num estado de ansiedade e medo permanente.
Henry viu as cicatrizes nas nádegas e nas coxas de Taleb, nos sítios onde lhe bateram com o que supunha ser um ramo de um arbusto com espinhos. Os homens que lhe bateram fizeram-no sem ódio, apenas com a força habitual - tinham medo do seu supervisor. E esse homem receava pela sua posição ou pela sua liberdade futura, devido a uma fuga ocorrida no ano anterior,
- Toda a gente o odeia - disse Taleb a Perowne. - A nação mantém-se unida exclusivamente à custa do terror. Todo o sistema se baseia no medo, e ninguém sabe como acabar com a situação. Agora vêm aí os Americanos, talvez pelas razões erradas. Mas Saddam e o Partido Baas vão ser corridos. E então, meu amigo doutor, hei-de oferecer-lhe um jantar num bom restaurante iraquiano aqui de Londres.
O casal de adolescentes vai a atravessar a praça para se ir embora. Resignada, ou ansiosa por aquilo para onde se dirige, deixa que o rapaz lhe ponha o braço por cima do ombro e encosta a cabeça a ele. Continua a coçar-se com a outra mão, à volta da cintura e ao fundo das costas. Aquela rapariga devia vestir um casaco. Mesmo à distância a que se encontra consegue ver as marcas vermelhas deixadas pelas suas unhas. Uma moda tirânica obriga-a a expor o umbigo, o diafragma, ao rigor de Fevereiro. O prurido sugere que ainda não criou tolerância à heroína. É nova na função. Precisa de um antagonista opiáceo como a naloxona para reverter o efeito. Henry saiu da casa de banho e parou ao cimo das escadas, de frente para o candelabro francês do século xix que pende do tecto, perguntando a si próprio se deverá ir atrás dela com uma receita; pensando bem, estava vestido para correr. Mas ela também precisa de um namorado que não seja traficante. E de uma vida nova. Começa a descer a escada, enquanto por cima da sua cabeça os pendentes de vidro do candelabro tilintam devido à vibração do metropolitano da linha de Victoria, que, muito abaixo da sua casa, começa a abrandar para parar na estação de Warren Street. Fica perturbado por pensar nas correntes poderosas, nas sintonias, que alteram o destino, nas influências próximas e distantes, nos acidentes de carácter e circunstância que fazem que uma jovem em Paris esteja a meter na mala as provas do seu primeiro livro de poemas antes de apanhar o comboio para Londres, onde a espera um lar acolhedor, ao mesmo tempo que outra jovem da mesma idade está a ser ludibriada por um rapaz que lhe promete um momento de felicidade à custa de químicos que a prenderão tanto à sua infelicidade como um opiáceo aos seus receptores mil.
Perowne não consegue deixar de pensar, numa atitude sem nada de científico, que o silêncio da casa é acentuado pelo facto de Theo estar a dormir profundamente no terceiro andar, de barriga para baixo, sob o edredão da sua cama de casal. Ainda tem à sua frente algumas horas de esquecimento. Quando acordar vai ouvir música tirada da Internet através das colunas de alta fidelidade, tomar duche e falar ao telefone. A fome só o faz sair do quarto ao princípio da tarde, quando desce para a cozinha, que fica por conta dele, faz mais telefonemas, põe um CD a tocar, bebe quase um litro de sumo e inventa atabalhoadamente uma salada ou uma mistura de iogurte, tâmaras, mel, fruta e miolo de noz. É uma alimentação que, na opinião de Henry, não condiz nada com os blues.
Quando chega ao primeiro andar pára à porta da biblioteca, a divisão mais imponente da casa, momentaneamente atraído pela forma como o sol, filtrado pelos enormes mas finos cortinados cor de aveia, inunda a sala de uma luz grave, de um castanho condizente com os livros. Henry tem a ambição de passar fins-de-semana inteiros ali, estendido num dos sofás Knole, com uma cafeteira de café ao lado, a ler uma ou outra obra-prima de craveira mundial, talvez numa tradução. Não tem nenhum livro específico em mente. Talvez não fosse má ideia perceber o que se entende, ou o que Daisy entende, por génio literário. Não tem a certeza se alguma vez teve essa experiência, apesar de ter feito várias tentativas. Duvida até da sua existência. Mas os seus tempos livres são sempre fragmentados, não só por afazeres, obrigações familiares e momentos dedicados ao desporto, mas também pela agitação inerente a essas pequenas ilhas semanais de liberdade. Não quer passar os dias sentado ou deitado. Também não quer ser um espectador de outras vidas, de vidas imaginárias - apesar de, nas últimas horas, ter passado uma quantidade anormal de tempo a olhar pela janela do quarto. Além disso, interessa-lhe menos reinventar o mundo do que percebê-lo. Os tempos que correm já são suficientemente estranhos. Porquê inventar coisas? Não lhe parece ter capacidade de concentração suficiente para ler muitos livros do princípio ao fim. Só no trabalho é que consegue concentrar-se; nos tempos livres é demasiado impaciente. Fica admirado com o que certas pessoas dizem conseguir fazer nos seus tempos livres, em que passam quatro a cinco horas por dia à frente da televisão para manterem as médias nacionais. Num intervalo de uma cirurgia na semana anterior - o micro-doppler avariou-se e foi preciso mandar vir um de outro bloco -, Jay Strauss afastou-se dos monitores e botões do seu equipamento de anestesia e, espreguiçando-se e bocejando, disse que tinha ficado acordado até de madrugada a acabar de ler um romance de oitocentas páginas de um novo prodígio americano. Perowne ficou impressionado e incomodado - se calhar faltava-lhe pura e simplesmente seriedade. Por orientação de Daisy, Henry lera do princípio ao fim Anna Karenina e Madame Bovary, duas reconhecidas obras-primas. Foi obrigado a abrandar os seus processos mentais e a abdicar de muitas horas do seu precioso tempo, mas empenhou-se a fundo nas subtilezas dos dois sofisticados contos de fadas. E que aprendeu, afinal de contas? Que o adultério é compreensível mas errado, que as mulheres do século xix não tinham uma vida fácil, além de ter ficado a saber como eram, numa determinada época, Moscovo, a província russa e a província francesa. Se, como Daisy dissera, o génio estava no pormenor, então ele não se deixara comover por isso. Os pormenores eram competentes e bastante convincentes, mas não muito difíceis de ordenar para quem tivesse um espírito minimamente observador e tivesse paciência para os escrever. Aqueles livros eram o produto de uma acumulação constante e bem feita.
Tinham pelo menos a virtude de representar uma realidade física reconhecível, o que já não podia dizer-se dos chamados realistas mágicos que ela optara por estudar no último ano. Que ideia era a desses autores famosos - homens e mulheres do século xx - ao atribuírem poderes sobrenaturais às suas personagens? Nunca conseguira ler até ao fim um único desses fastidiosos produtos. Ainda por cima eram escritos por adultos, não por crianças. Em vários desses livros havia heróis e heroínas que tinham nascido com asas ou que as tinham desenvolvido mais tarde - segundo Daisy, um símbolo da sua situação limiar; naturalmente, aprender a voar era uma metáfora para um desejo ousado. Outros tinham um sentido mágico do olfacto, ou despenhavam-se sem que nada lhes acontecesse de aviões que voavam a grande altitude. Um visionário viu os seus pais através da janela de um pub tal como eram algumas semanas depois da sua concepção, a discutirem a possibilidade de fazerem um aborto.
Um homem que tenta aliviar o sofrimento das mentes que falham reparando cérebros tem necessariamente de respeitar o mundo material, os seus limites e o que ele consegue aguentar - a consciência. O que já não é pouco. Para ele, é um artigo de fé, um facto que lhe é confirmado diariamente, que a mente é o que o cérebro, pura matéria, realiza. Se, por um lado, suscita admiração, por outro também suscita curiosidade; o desafio devia ser o real,
e não o mágico. Aquela lista de leitura convenceu Perowne de que o sobrenatural era o recurso de quem tinha uma imaginação insuficiente, uma incúria, uma fuga infantil às dificuldades e às maravilhas do real, à exigente recriação do plausível.
«Não quero mais gnomos mágicos a tocarem tambor», implorou à filha por carta, depois de uma longa diatribe. «Por favor, não quero mais fantasmas, nem anjos, nem demónios, nem metamorfoses. Quando tudo pode acontecer, nada interessa muito. Acho tudo muito kitsch.»
«És um simplório», respondeu-lhe ela num postal, num tom reprovador. «É literatura, não é física!»
Nunca tinham mantido uma das suas frequentes discussões por correio. Ele respondeu-lhe:
«Diz isso ao teu Flaubert e ao teu Tolstoi. Neles não há um único ser humano com asas!»
A resposta dela veio na volta do correio:
«Volta à tua Madame Bovary», e seguia-se a indicação de algumas páginas. «Ele estava a precaver o mundo em relação às pessoas como tu.» As duas últimas palavras estavam sublinhadas várias vezes.
Até agora, as listas de leitura de Daisy têm-no persuadido de que a ficção tem demasiadas falhas humanas, é demasiado irregular e imprecisa para inspirar uma admiração simples pela magnificência do engenho humano, pela forma estonteante como o impossível foi alcançado. Talvez só a música tenha tal pureza. Admira Bach mais que todos os outros, sobretudo as peças para cravo; no dia anterior ouviu duas Partitas no bloco, quando estava a operar o astrocitoma de Andrea. Depois há os suspeitos do costume - Mozart, Beethoven, Schubert. Os seus ídolos do jazz, Evans, Davis, Coltrane. Cézanne, entre vários pintores, algumas catedrais que Henry visitou nas férias. Para além da arte, a sua lista de realizações sublimes incluiria a relatividade geral de Einstein, de cuja matemática absorveu algumas noções quando tinha vinte e poucos anos.
Devia fazer essa lista, decide enquanto desce a ampla escadaria de pedra até ao rés-do-chão, embora saiba que nunca o fará. Uma obra que não conseguimos imaginar-nos nós próprios a realizar, que contém um elemento implacável, quase inumano de perfeição - é essa a sua ideia de génio. A teoria de Daisy de que as pessoas não conseguem «viver» sem histórias não é pura e simplesmente verdadeira. Ele é uma prova viva disso.
Vai buscar o correio e os jornais à porta da frente e lê as maiores a caminho da cozinha. Blix informa a ONU de que os iraquianos estão a começar a cooperar. Em resposta, o primeiro-ministro deverá realçar as razões humanitárias para a guerra, num discurso que fará hoje em Glasgow. Na opinião de Perowne, é o único argumento que vale a pena. Mas a reviravolta que o primeiro-ministro tem dado ultimamente parece-lhe cínica. Henry tem esperança de que a sua história, conhecida às quatro e meia da manhã, ainda saia nas edições mais tardias de Londres. Mas não vem nada nos jornais.
Ninguém foi à cozinha desde que ele de lá saiu. Em cima da mesa estão a sua chávena, a garrafa vazia de água mineral de Theo e o comando da televisão. Aquela fidelidade rígida dos objectos, umas vezes tranquilizadora, outras sinistra, é um pouco surpreendente. Pega no comando, liga a televisão e carrega no botão de tirar o som - ainda faltam vários minutos para o noticiário das nove - e enche a cafeteira eléctrica. Com pequenos acréscimos, a humilde chaleira atingiu o pico do refinamento: em forma de jarro para ser mais eficiente, é de plástico para ser mais segura, tem um bico largo para ser mais fácil de encher, e tem uma pequena plataforma que se liga à electricidade. Nunca teve qualquer queixa do modelo antigo - a tampa pegajosa de estanho, a volumosa e feminina ficha preta à espera de electrocutar as mãos molhadas de alguém parecia-lhe de acordo com a natureza das coisas. Mas houve alguém que pensou seriamente no assunto,
e agora não há volta a dar. O mundo devia reparar neste caso: nem tudo está a piorar.
A notícia chega quando ele está a moer o café. A nova pivot é uma mulher atraente, de pele escura, cujas sobrancelhas depiladas e com grandes arcos exprimem surpresa perante o desafio de mais uma manhã. Primeiro, imagens de um troço de auto-estrada com dezenas de autocarros que transportam manifestantes para a cidade, para o que se espera venha a ser a maior manifestação pública de protesto alguma vez vista. Depois um repórter junto de um grupo de manifestantes já reunidos na zona do Embankment. Tantas manifestações de felicidade são suspeitas. Todos estão entusiasmados por estarem todos juntos nas ruas - as pessoas parecem abraçar-se a si próprias e umas às outras. Se pensam - e talvez tenham razão - que a prática contínua de tortura, as execuções sumárias, a limpeza étnica e até o genocídio são preferíveis a uma invasão, deviam estar com um ar sombrio. O avião, o avião de Henry, é a segunda notícia. As mesmas imagens e apenas mais alguns pormenores: suspeita-se que a causa do incêndio terá sido uma falha eléctrica. Rodeados por alguns polícias, vêem-se os dois russos - o piloto, um indivíduo de pele queimada pelo sol, com cabelo gorduroso, e o co-piloto, gordo e estranhamente alegre. Ou estão bronzeados ou devem ser de uma das repúblicas do Sul. As poucas probabilidades de sobrevivência de uma notícia - sem vilões, sem mortes, sem um desfecho em suspenso - são reanimadas por uma dose de controvérsia artificial: descobriram um perito em aviação que diz que foi uma imprudência um avião em chamas sobrevoar uma área densamente povoada quando havia outras opções. Um representante das autoridades aeroportuárias diz que não havia qualquer ameaça para os londrinos. O governo ainda não comentou.
Desliga a televisão, puxa de um banco e senta-se com o seu café e o telefone. Antes de o seu sábado poder começar tem de ligar para o hospital para saber dos seus doentes. A chamada é transferida para os cuidados intensivos e Henry pede para falar com a enfermeira de serviço. Enquanto alguém vai chamá-la. Henry ouve o barulho de fundo que lhe é familiar, a voz de um maqueiro que reconhece, um livro ou uma pasta de arquivo a baterem numa mesa.
Depois ouve o tom inexpressivo de uma mulher muito ocupada a dizer:
- UCI.
- Deidre? Pensava que era o Charles que estava de serviço neste fim-de-semana.
- Está de baixa com gripe, Dr. Perowne.
- Como está a Andrea?
- O GCS é quinze, boa oxigenação, não está confusa.
- A drenagem?
- Drenou mais uns cinco centímetros. Estou a pensar mandá-la para a enfermaria.
- Está bem - disse Perowne. - Importa-se de dizer ao anestesista que estou de acordo que ela vá para a enfermaria? - Ia a desligar quando acrescentou: - Ela está a dar-lhe muito trabalho?
- Está muito exaltada com tudo o que aconteceu, Dr. Perowne. Mas é assim que gostamos dela.
Pega nas chaves, no telefone e no comando da porta da garagem, que estão numa bandeja de prata ao lado do livro de recibos. A carteira está no sobretudo, que está pendurado numa divisão atrás da cozinha, para lá da garrafeira. A raqueta de squash está no andar de cima, no rés-do-chão, num armário na lavandaria. Veste o velho blusão das suas caminhadas e no momento em que vai ligar o alarme lembra-se de que Theo está em casa. Quando sai e se volta depois de fechar a porta, ouve os gritos das gaivotas que vêm a terra à procura das sobras boas que há na cidade. O Sol está baixo e só metade da praça - a metade do seu lado - está banhada pela luz. Segue o seu caminho para lá da praça por passeios tão húmidos que o seu brilho quase o ofusca, surpreendido pela frescura do dia. O ar tem um cheiro a limpeza. Tem a sensação de que caminha sobre uma superfície natural, por um qualquer ermo costeiro, sobre uma laje lisa de basalto, que lhe recorda vagamente umas férias da sua infância. Devem ter sido os gritos das gaivotas que lhe trouxeram essa recordação. Lembra-se do sabor dos salpicos de água de um mar agitado, de um verde-azulado, e ao chegar a Warren Street lembra-se de que não pode esquecer-se de ir à peixaria. Animado pelo café, por finalmente estar a movimentar-se, pela perspectiva do jogo e pela sensação confortável da capa da raqueta na sua mão, apressa o passo. Nesta zona há quase sempre muito pouca gente na rua aos fins-de-semana, mas lá adiante, em Euston Road, há um enorme grupo de pessoas a dirigir-se para leste, para Gower Street, e há também os autocarros que viu na televisão, numa longa fila na faixa mais à direita. Os passageiros têm a cara encostada às janelas, ansiosos por se apanharem na rua com as outras pessoas. Penduraram as faixas à janela, e também cachecóis com nomes de clubes de futebol e de cidades do interior de Inglaterra - Stratford, Gloucester, Evesham. Entre a multidão impaciente que enche os passeios há pessoas que mandam calar os que estão a fazer barulho - um trombone, uma buzina, um tambor. Há quem ensaie palavras de ordem, que a princípio não consegue distinguir. Tac-tac-tac, não ataquem o Iraque. Os cartazes que ainda não estão a ser utilizados são transportados às costas, em ângulos estranhos sobre os ombros. «Em meu nome não» aparece mais de uma dúzia de vezes. Uma palavra de ordem tão centrada em si própria sugere um novo mundo de protestos, do qual também fazem parte os exigentes consumidores de champôs ou refrigerantes, que ora querem sentir-se bem ora bonitos. Henry prefere o lânguido «fim a este tipo de coisas».
Passa por um cartaz de um dos grupos organizadores - a Associação Britânica de Muçulmanos. Lembra-se bem deles. Lera recentemente num jornal um artigo deles a explicar que no Islão a apostasia é um pecado punido com a morte. A seguir vem uma faixa do Coro das Mulheres de Swaffham e depois uma dos Judeus Contra a Guerra.
Em Warren Street vira à direita. Agora o seu ângulo de visão estende-se para leste, em direcção a Tottenham Court Road. Aí a multidão é ainda maior e constantemente engrossada por centenas de pessoas que saem da estação do metropolitano. Iluminadas por trás por um Sol baixo, as figuras em silhueta separam-se e convergem numa massa mais escura, mas continua a ser possível ver uma banca de livros improvisada e um carrinho a vender cachorros, descaradamente montado quase à porta do McDonald's da esquina. É surpreendente a quantidade de crianças que andam na rua e até de bebés em carrinhos. Apesar do seu cepticismo, Perowne, de ténis de sola branca e agarrando a raqueta com mais força, sente a sedução e o entusiasmo inerentes àqueles acontecimentos; a multidão a apoderar-se das ruas, dezenas de milhares de desconhecidos a convergirem para um mesmo local com um único objectivo e movidos por uma mesma alegria revolucionária.
Podia estar com eles, pelo menos em espírito, pois nada conseguiria demovê-lo do seu jogo, se o professor Taleb não tivesse tido um aneurisma na artéria cerebral média. Nos meses que se seguiram às suas conversas, Perowne entregara-se a uma leitura compulsiva sobre o regime iraquiano. Ficou a saber que tinha sido Estaline o exemplo inspirador de Saddam e a conhecer a rede de cumplicidades familiares e tribais que o sustentavam, bem como os palácios que lhes haviam sido oferecidos em recompensa. Leu os pormenores doentios dos genocídios no Norte e no Sul do país e da limpeza étnica e leu também textos que falavam do vasto sistema de informadores, das estranhas torturas e do gosto de Saddam por participar nelas, e dos terríveis castigos transformados em leis, como as marcas com ferros em brasa e as amputações. Naturalmente, Henry seguiu atentamente os relatos das medidas tomadas contra os médicos que se recusavam a praticar essas mutilações. Concluiu que raramente a corrupção e a maldade tinham sido mais inventivas, sistemáticas e generalizadas. Miri tinha razão - era de facto uma república do medo. Henry leu também o famoso livro de Makiya. Parecia-lhe evidente que o princípio organizador de Saddam era o terror.
Perowne sabe que, quando um império poderoso - como o assírio, o romano ou o americano - se lança numa guerra, reclamando justa causa, a história não se deixa impressionar. Receia também que a invasão ou a ocupação corram mal. Os manifestantes podem ter razão. Reconhece também o carácter fortuito das opiniões; se não tivesse conhecido e admirado o professor, talvez pensasse de maneira diferente, talvez tivesse uma atitude menos ambivalente em relação à guerra que se aproxima. As opiniões são uma roleta russa; por definição, nenhuma das pessoas que naquele momento se apinham em torno da estação do metropolitano de Warren Street terá sido torturada pelo regime, nem sequer conhece nem é amiga de nenhuma pessoa que o tenha sido, nem sequer sabe grande coisa sobre o país. É provável que a maior parte daquelas pessoas quase nem tenha dado pelos massacres dos Curdos ou dos Xiitas e que agora sinta um profundo envolvimento na situação iraquiana. Têm motivos de sobra para ter aquelas opiniões, nomeadamente os receios pela sua própria segurança. Diz-se que um ataque ao Iraque irá levar a Al-Qaeda, que despreza tanto o ímpio Saddam como a oposição xiita, a vingar-se sobre as cidades mais brandas do Ocidente. O interesse próprio é uma causa tão meritória como qualquer outra, mas Perowne não consegue olhar para eles como donos exclusivos da verdade moral, e se calhar nem os próprios manifestantes se vêem como tal.
Os bares que vendem sanduíches estão fechados ao fim-de-semana. Só o quiosque e um restaurante estão abertos. O dono do Rive Gaúche está a molhar o passeio com um balde de zinco, à boa maneira parisiense. Um homem de rosto avermelhado, mais ou menos da idade de Perowne, com um boné de basebol e um blusão amarelo, vem a andar em direcção a ele, de costas para a multidão, com um carrinho de mão. É um empregado da Câmara que anda a limpar as sarjetas. Parece estranhamente empenhado em fazer um bom trabalho e empurra com força a vassoura contra o ângulo do passeio, para tirar todo o lixo. É desconfortável ver tanto vigor e zelo num sábado de manhã; é quase uma acusação feita em silêncio. Que pode haver de mais fútil que aquele trabalho doméstico à escala urbana, mal pago, quando atrás dele, ao fundo da rua, as caixas e os copos de papel se amontoam rapidamente sob os pés dos manifestantes reunidos à porta do McDonald's? E quando, para lá deles, existe por toda a cidade uma tempestade diária de lixo? Quando os dois homens se cruzam, o seu olhar encontra-se momentaneamente, mas é um olhar neutro. As córneas dos olhos do varredor têm uma coloração amarelada que junto às pestanas se transforma em vermelho. Por um momento vertiginoso, Henry sente-se preso ao outro homem, como se estivesse com ele num sobe e desce, preso num eixo que podia ligá-los à vida um do outro.
Perowne desvia a cara e abranda o passo antes de virar para o parque onde o seu carro está estacionado. Como deve ter sido tranquilizador, numa outra época, gozar de prosperidade e acreditar que a condição social das pessoas era atribuída por um ser sobrenatural. E não ver como a própria fé estava ao serviço da prosperidade - uma espécie de anosognosia, um útil termo psiquiátrico para designar a ausência de consciência da sua própria condição.
Agora que achamos que percebemos tudo, qual é o ponto da situação? Depois das ruinosas experiências do século anterior, de tantos comportamentos incorrectos, de tantas mortes, instalou-se um agnosticismo repugnante em torno das questões da justiça e da redistribuição da riqueza. Acabaram-se os grandes ideais. O mundo terá de melhorar, se é que algum dia vai melhorar, a pouco e pouco. A maioria das pessoas tem uma visão existencialista da vida - ter de ganhar a vida a varrer as ruas é visto apenas como uma questão de azar. Não estamos numa era visionária. As ruas têm de ser limpas. Os azarados que se cheguem à frente.
Desce uma pequena rampa de pedras escorregadias em direcção ao sítio onde outrora os donos de casas como a sua guardavam os cavalos. Hoje em dia, quem tem dinheiro para isso guarda ali os carros, sem ter de os deixar estacionados na rua. Preso ao seu porta-chaves está um botão de infravermelhos com o qual acciona a ruidosa porta de aço, que se ergue em impulsos mecânicos, revelando um longo focinho e uns olhos brilhantes, ansiosos por serem libertados. É um Mercedes S 500 prateado, com estofos de pele de cor creme, que já não faz Henry sentir-se embaraçado. Nem sequer adora o carro - é apenas uma componente sensual daquilo que considera o seu quinhão mais que generoso dos bens do mundo. Se não fosse seu, diz para tentar convencer-se a si próprio, seria de qualquer outra pessoa. Há uma semana que não anda nele, mas na escuridão da garagem seca e sem pó o carro mantém uma espécie de calor animal. Abre a porta e senta-se. Gosta de o conduzir vestido com o seu velho fato de desporto. No outro banco da frente está um exemplar antigo do Journal of Neurosurgery, com um relatório seu sobre um congresso realizado em Roma. Atira a raqueta de squash para cima do jornal. A pessoa que mais desaprova o carro é Theo, que diz que é o carro típico de um médico, com um tom de condenação absoluta. Por sua vez, Daisy disse que achava que Harold Pinter tinha um carro parecido com aquele, o que significava que para ela estava tudo bem. Rosalind encorajara-o a comprá-lo. Na sua opinião, a vida dele está cheia de uma austeridade demasiado culpada, e nunca comprar roupa, ou um bom vinho ou um quadro tem o seu quê de pretensioso. É como se continuasse a viver como um estudante. Estava na altura de ele se satisfazer.
Passou vários meses a guiá-lo como se andasse sempre a pedir desculpa por isso, raramente em quarta, com muita relutância em ultrapassar, fazendo sinal aos carros de que avançassem, cuidadoso em dar espaço aos carros mais baratos. Ficara curado numa viagem ao Noroeste da Escócia com Jay Strauss, para uns dias de pesca. Seduzido pelas estradas quase sem carros e pela forma triunfante como Jay celebrava o «espírito luterano», Henry aceitou-se finalmente como proprietário, como senhor daquele carro. Sempre se considerou um bom condutor: tal como quando está no bloco operatório, é firme, preciso, defensivo na exacta medida. Andaram à pesca de trutas nos ribeiros e lagos da zona de Torridon. Numa tarde de chuva olhou por cima do ombro enquanto estava à pesca e viu o carro a uns cem metros de distância, estacionado de lado numa subida do caminho, banhado por uma luz suave contra um fundo de vidoeiros, urzes em flor e um céu escuro que prenunciava uma trovoada - verdadeiramente a visão de um publicitário tornada realidade -, e sentiu pela primeira vez uma alegria suave, saborosa, por aquele carro ser seu. Claro que é possível e legítimo amar um objecto inanimado. Mas aquele momento fora o auge do caso de amor entre os dois. Desde então, os seus sentimentos acomodaram-se num prazer ligeiro e ocasional. O carro dá-lhe uma vaga satisfação quando vai a guiá-lo, mas tirando isso quase nunca pensa nele. De acordo com a promessa e a intenção dos seus fabricantes, tornou-se parte dele.
Mas há umas quantas pequenas coisas que ainda continuam a entusiasmá-lo, como a ausência de qualquer vibração quando o carro está em ponto morto; só o conta-rotações confirma que o motor está a trabalhar. Liga o rádio, no qual se ouve uma longa e respeitosa aclamação quando sai da garagem, fecha a porta de aço atrás de si e sobe lentamente a rampa, virando à esquerda, outra vez para Warren Street. O clube de squash fica em Huntley Street, num edifício que outrora albergou um lar de freiras. É perto, mas vai de carro porque depois tem algumas voltas a dar. Sem qualquer sentimento de vergonha, desfruta sempre da cidade de dentro do carro, onde o ar é filtrado e a música estereofónica dá um certo pathos aos pormenores mais humildes - como, por exemplo, agora que um trio de cordas de Schubert enche de dignidade a rua estreita por onde vai. Está a percorrer alguns quarteirões para sul, para fugir a Tottenham Court Road. Cleveland Street era famosa pelas pequenas fábricas de vestuário com más condições de trabalho e pelas prostitutas. Agora tem restaurantes gregos, turcos e italianos - daqueles que nunca vêm mencionados nos guias turísticos -, com esplanadas onde as pessoas comem no Verão. Há uma loja de um homem que arranja computadores, uma loja de tecidos, um sapateiro e, mais à frente, um empório de perucas, muito apreciado pelos travestis. É um bom exemplo de uma viela no coração de uma cidade - obscura, segura de si própria, muito variada. É neste momento que lhe ocorre qual a origem da sua vaga sensação de vergonha ou embaraço: é a sua disponibilidade para se deixar convencer de que o mundo mudou de forma a torná-lo irreconhecível, de que as ruas inofensivas como aquela e a vida tolerante que lhes é inerente podem ser destruídas pelo novo inimigo, que está bem organizado, é tentacular, cheio de ódio e de um zelo imperturbável. Estas preocupações apocalípticas parecem absolutamente deslocadas em pleno dia, quando as ruas e as pessoas que as cruzam justificam e garantem a sua própria existência. O mundo não mudou assim tanto. Falar de cem anos de crise é ser indulgente. Sempre houve crises, e o terrorismo islâmico há-de soçobrar, tal como as guerras mais recentes, as alterações climáticas, a política do comércio internacional, a falta de solo arável e de água, a fome, a pobreza e tudo o mais.
Ouve a peça de Schubert baixar suavemente de tom e voltar a subir. A rua é bonita, e a cidade, uma grande realização dos vivos e dos mortos que outrora a habitaram, também é bela e robusta. Não se deixará destruir facilmente. É demasiado boa para desistir de si própria. Ao longo dos séculos a vida na cidade tem vindo a melhorar constantemente para a maior parte das pessoas, apesar dos drogados e dos sem-abrigo que nela existem agora. O ar está melhor, e já há salmões no Tamisa e as lontras estão a voltar. Melhorou para a maior parte das pessoas a todos os níveis - material, médico, intelectual, sensual. Os professores de Daisy na universidade achavam a ideia de progresso antiquada e ridícula. Cheio de indignação, Perowne agarra o volante com mais força. Recorda uma frase de Medawar, um homem que admira: «Menosprezar a esperança do progresso é a maior das imbecilidades, a última palavra em matéria de pobreza de espírito e estreiteza de vistas.» Claro que não vai ser tolo ao ponto de se deixar levar por essa ideia dos cem anos. No último semestre do curso de Daisy foi a uma sessão aberta na universidade. Os jovens oradores dramatizaram a vida moderna como uma sequência de calamidades. É o estilo deles, a sua forma de serem inteligentes. Não seria interessante nem profissional apontar a erradicação da varíola como umas das componentes do mundo moderno. Ou a recente proliferação de democracias. Ao fim do dia, um deles fez uma intervenção sobre as perspectivas da nossa civilização consumista e tecnológica - nada boas. Mas, se o sistema actual desaparecer agora, o futuro ver-nos-á em retrospectiva como deuses e, nesta cidade, como deuses afortunados, abençoados por cornucópias de supermercados, torrentes de informação ao nosso dispor, roupas quentes que não pesam nada, uma maior esperança de vida, máquinas assombrosas. Vivemos na era das máquinas assombrosas. Telemóveis pouco maiores que as nossas orelhas. Discotecas inteiras em objectos do tamanho da mão de uma criança. Câmaras que conseguem transmitir as suas imagens para todo o mundo. Ele encomendou sem qualquer esforço o carro que vai a guiar através da Internet, com um instrumento pousado sobre a sua secretária. O aparelho estereotáctico computorizado que utilizou na véspera revolucionou a sua forma de fazer biópsias. Os dois chineses que vão a andar na rua de mão dada estão ligados por um equipamento digital, tendo cada um um fone no ouvido para ouvir o discman. E aquela rapariga magra de fato de treino que vai a empurrar um carrinho de bebé todo-o-terreno de três rodas vai quase aos saltos. Na verdade, toda a gente por quem ele passa naquela rua agradavelmente obscura parece feliz, pelo menos tão feliz como ele. Mas, para os professores da academia, para as pessoas das humanidades em geral, o sofrimento é mais fácil de analisar; é muito mais difícil entender a felicidade. Com um espírito de exaltação agressiva pelos tempos que correm, Perowne curva o Mercedes para leste, em direcção a Maple Street. O seu bem-estar parece precisar da oposição de entidades espectrais, de figuras inventadas por si próprio e que ele possa derrotar. Às vezes sente-se assim antes de um jogo. Não gosta particularmente daquele estado de espírito, mas só parcialmente consegue controlar a corrente imparável dos seus pensamentos - o ruído de fundo dos seus pensamentos solitários é determinado pelo seu estado emocional. Talvez afinal não se sinta feliz e esteja apenas a tentar animar-se. Está a passar pelo edifício que fica por baixo da Torre dos Correios - que agora já lhe parece menos feio, com a sua entrada de alumínio, o seu revestimento azul e as formas geométricas das janelas e das grelhas de ventilação a fazerem lembrar um quadro de Mondrian. Mas, mais adiante, depois do cruzamento de Fitzroy Street com Charlotte Street, a rua está cheia de edifícios de escritórios modestos e de residências de estudantes - com janelas mal encastradas, pouco ambiciosos e pouco resistentes. Num dia de chuva e com o estado de espírito adequado, poder-se-á pensar que estamos na Varsóvia da era comunista. Só quando muitos daqueles prédios forem deitados abaixo vai ser possível começar a gostar deles.
Henry está agora numa rua paralela a Warren Street, dois quarteirões abaixo. Continua a sentir-se incomodado por aquele estado de espírito peculiar, de felicidade misturada com agressividade. Ao aproximar-se de Tottenham Court Road inicia a rotina familiar de enumerar os acontecimentos recentes que podem ter-lhe dado origem. O facto de ter feito amor com Rosalind, de ser sábado de manhã, de ir a guiar o seu carro, de ninguém ter morrido no avião e de ir jogar squash, de Andrea Chapman e os outros doentes que operou no dia anterior estarem bem, de Daisy estar prestes a chegar - tudo isso está do lado bom. E do outro lado? Por exemplo, o facto de estar a travar. De haver um polícia de trânsito, com um colete amarelo, a meio de Tottenham Court Road, com a mota parada, a estender o braço para lhe fazer sinal de parar. Claro que a rua está fechada por causa da manifestação. Devia ter-se lembrado disso. Mesmo assim, continua a andar, a abrandar, como a fazer de conta que não percebe ou que talvez abram uma excepção para ele - afinal, só quer atravessar a rua, não quer percorrê-la de alto a baixo. Pelo menos terá o que lhe é devido: uma pequena encenação de troca de palavras entre um polícia firme e apologético e um cidadão tolerante e com um ar grave.
Pára no cruzamento das duas ruas. O polícia dirige-se de facto a ele, olhando para os manifestantes ao fundo da rua e tentando disfarçar um sorriso tolerante que sugere que, por vontade dele, o Iraque já teria sido bombardeado há muito tempo, e não seria só o Iraque. Perowne, descontraído ao volante, teria respondido com um sorriso discreto, se não fosse terem acontecido duas coisas, quase em simultâneo. Por detrás do polícia, do outro lado da rua, surgem três homens, dois altos e um mais baixo e gordo e com um fato preto, que saem apressadamente de um clube de dança do ventre, o Spearmint Rhino, e quase tropeçam com o esforço de não desatarem a correr. Quando passam a esquina para a rua onde Perowne está a tentar entrar deixam de estar tão controlados e começam a correr em direcção a um carro estacionado não muito longe, com o mais baixo a ficar cada vez mais para trás. A outra coisa que acontece é que entretanto o polícia, sem dar pelos homens, pára de repente a caminho de Perowne e leva uma mão ao ouvido esquerdo. Acena com a cabeça, fala para um microfone preso à frente da sua boca e volta-se para a mota. Mas depois, lembrando-se do que ia fazer, olha para trás. Perowne olha para ele e, como a desculpar-se e com uma expressão de interrogação, aponta para University Street. O polícia encolhe os ombros, depois acena com a cabeça e faz um gesto com a mão como que a dizer: «Vá lá, depressa. Que se lixe.» Os manifestantes ainda vêm lá ao fundo e ele acabou de receber novas instruções.
Perowne não está atrasado para o jogo, nem impaciente por atravessar a rua. Gosta do seu carro, mas nunca se interessou pelos pormenores do seu desempenho, pelo tempo de aceleração quando está parado. Deve ser impressionante, mas nunca o testou. Já é velho para deixar marcas de pneus junto aos semáforos. Mete a primeira e olha diligentemente para os dois lados da rua, apesar de ela só ter um sentido, de sul para norte; sabe que podem vir peões do outro lado. Se percorrer rapidamente as quatro faixas de rodagem da rua, o polícia, que está a pôr a mota a trabalhar, já não terá de se preocupar com ele. Perowne não quer causar-lhe problemas com os superiores hierárquicos. Além disso, houve qualquer coisa no gesto da sua mão que deu a entender que havia necessidade de ser rápido. Deve ter percorrido os dezoito a vinte metros até à entrada de University Street, onde mete a segunda, a uns trinta quilómetros à hora. Talvez quase quarenta. No máximo quarenta e cinco. Depois de meter a mudança, abranda, à procura da rua certa para virar antes de Gower Street, que também está fechada.
Esse avanço fá-lo regressar imediatamente à sua lista, às causas próxima e distante do seu estado emocional. Um segundo pode ser muito tempo em introspecção. Foi o suficiente para Henry iniciar a lista das coisas negativas e também o suficiente para pensar, ou sentir, sem traduzir esse pensamento em sintaxe e palavras, que a coisa que mais o preocupa é o estado do mundo, e os manifestantes estão ali para lhe recordar isso mesmo. Se calhar o mundo sofreu mesmo uma transformação fundamental, e essa questão está a ser muito mal gerida, sobretudo pelos Americanos. Há pessoas no mundo, bem organizadas e relacionadas, que seriam capazes de o matar a ele e à sua família e amigos para afirmarem as suas posições. A dimensão da morte a infligir já não está em casa. Haverá outras mortes à mesma escala, talvez nesta cidade. Terá tanto medo que não consegue enfrentar esse facto? As asserções e dúvidas não são formuladas. Henry exprime-as com um encolher de ombros mental seguido por um impulso de interrogação. É a linguagem pré-verbal que os linguistas apelidam de mental. Dificilmente poderá considerar-se uma forma de linguagem; é mais uma matriz de padrões variáveis, que vão consolidando e comprimindo o significado em fracções de segundo e misturando-o de forma indissolúvel com um cambiante emocional próprio, bastante semelhante a uma cor. Um amarelo doentio. Mesmo com o dom de condensação dos poetas, poderiam ser precisas centenas de palavras e muitos minutos para o descrever. Por isso, quando uma mancha vermelha cruza a sua visão periférica esquerda, como uma forma na retina num ataque de insónia, surge já com a qualidade de uma ideia, de uma ideia nova, inesperada e perigosa, mas inteiramente sua e não do mundo exterior a ele.
Vai a guiar com uma perícia inconsciente, penetrando num espaço estreito limitado à direita por uma ciclovia sobre um passeio e à esquerda por uma fila de carros estacionados. É dessa fila que surge o pensamento, e com ele o som de um espelho partido e o guincho de duas superfícies de chapa de aço a roçarem uma na outra sob pressão, no momento em que dois carros tentam ocupar um espaço que só dá para um. A decisão instantânea de Perowne no momento do impacto é acelerar e desviar-se para a direita. Há outros sons - o staccato do carro vermelho que está à sua esquerda a chocar com uma meia dúzia de carros estacionados e a pancada forte do cimento contra a borracha, como um único aplauso amplificado, no momento em que o Mercedes sobe o passeio da ciclovia. A roda de trás também bate no passeio. Fica à frente do intruso e trava. Os carros param de esguelha, a dez metros um do outro, com os motores desligados, e por um momento faz-se silêncio e ninguém sai do seu interior.
Pelos padrões actuais dos acidentes rodoviários - Henry trabalhou cinco anos no serviço de acidentes e urgências -, é um caso banal. De certeza que não há feridos, e os seus serviços de médico não vão ser precisos. Já teve de o fazer duas vezes nos últimos cinco anos, ambas devido a ataques cardíacos, uma vez num voo para Nova Iorque e outra num teatro londrino abafado durante uma vaga de calor em Junho. Ambas as situações foram penosas e complicadas. Não está em choque, não está estranhamente calmo, nem exaltado, nem petrificado, a sua visão não está anormalmente lúcida, não está a tremer.
Ouve os estalidos do metal quente a contrair-se. A única coisa que sente é uma irritação crescente a debater-se com uma cautela natural. Não precisa de ver - sabe que um dos lados do seu carro está amolgado. Já está a imaginar as semanas, os meses de papelada, de contactos com a seguradora, de telefonemas, de tempo perdido na oficina. Há algo de original e primitivo que o seu carro perdeu e que, por bem reparado que fique, nunca voltará a ter. Também há o impacto sobre o eixo dianteiro, sobre a suspensão, sobre todas aquelas peças misteriosas que evocam a essência da tortura prolongada - a cremalheira e a roda dentada. O seu carro não voltará a ser o mesmo. Está ruinosamente alterado. E o mesmo acontece com o seu sábado. Não conseguirá chegar a tempo do jogo.
Acima de tudo, sente-se invadir por uma emoção peculiarmente moderna - a rectidão do condutor, caldeando um veemente desejo de justiça com a excitação do ódio, que faz que uma série de frases batidas lhe passem pela cabeça, revitalizadas, desprovidas da sua natureza de estereótipos: «saia daí, não fez sinal, seu estúpido, nem sequer olhou, para que é que serve o espelho, seu sacana de merda». A única pessoa do mundo que ele odeia está sentada no carro atrás do seu, e Henry vai ter de falar com essa pessoa, enfrentá-la, trocar com ela informações sobre o seguro - tudo isso quando podia estar a jogar squash. Sente que ficou para trás. E quase como se o visse: a outra versão dele, a mais provável, vai a recuar, absorta, por uma rua secundária, como um tio rico que vai a desaparecer, pensativo e feliz, a guiar descuidadamente num sábado e a deixá-lo sozinho e infeliz, entregue ao seu novo, improvável e inelutável destino. Essa é que é a realidade. Dizê-lo a si próprio é uma maneira de trair o pouco que acredita que assim seja de facto. Apanha a raqueta do chão do carro e torna a pô-la em cima do Journal. A sua mão direita está no fecho do carro. Mas não se mexe ainda. Está a olhar pelo espelho retrovisor. Tem motivos para ser prudente.
Tal como esperava, há três cabeças no carro atrás do seu. Sabe que pode ser alvo de conclusões precipitadas e por isso tenta controlá-las. Ao que sabe, a dança do ventre é uma actividade legal. Se tivesse visto os três homens sair apressadamente, mesmo com um ar furtivo, do Wellcome Trust ou da British Library, talvez já tivesse saído do carro. Como iam depressa, é possível que fiquem ainda mais irritados do que ele com a demora. O carro é um BMW série cinco, um automóvel que costuma associar, por nenhuma razão em especial, com criminalidade e tráfico de droga. E são três homens - não um. O mais baixo vem à frente, ao lado do condutor e, no momento em que Henry olha, a porta desse lado está a abrir-se, seguida imediatamente pela porta do lado do condutor e depois pela porta de trás do outro lado. Perowne, que não quer ser obrigado a falar sentado no carro, sai também. Aquela pausa de meio minuto fez que a situação se assemelhasse quase a um jogo, em que todos os cálculos já foram feitos. Os três homens têm as suas razões para quererem ganhar tempo e discutirem o passo seguinte. Enquanto dá a volta pela frente do carro, Perowne pensa que não pode esquecer-se de que tinha prioridade e de que está furioso. Mas também tem de ter cuidado. Sentindo que estas ideias contraditórias em nada o ajudam, decide que será melhor enfrentar o confronto sentindo-se como se sente, em vez de se dar ao trabalho de procurar argumentos. Nesse momento tem o impulso de ignorar os homens, de se afastar deles e dar a volta pela frente do Mercedes para ver o lado com que bateu. Mas, até no momento em que está parado, de mãos nas ancas, numa pose de proprietário ultrajado, mantém os homens, que agora avançam para ele em grupo, no seu ângulo de visão.
À primeira vista parece que não há estragos. O espelho está intacto, a chapa não está amolgada; é de admirar, mas até a pintura metalizada está intacta. Inclina-se para a frente, para apanhar a luz noutro ângulo. Com os dedos
abertos, passa a mão ao de leve sobre a carroçaria, como se soubesse o que está a fazer. Não tem nada. Rigorosamente nada. Em termos tácticos, imediatos, este facto parece deixá-lo em desvantagem. Não tem nada para mostrar que justifique a sua raiva. Se houver algum dano, será entre as rodas da frente; não está à vista.
Os homens pararam para ver qualquer coisa que está no chão. O mais baixo, de fato preto, bate com a biqueira do sapato no espelho lateral do BMW, que se partiu, voltando-o como faria a um animal morto. Um dos outros, um homem alto com o rosto pesaroso de um cavalo, apanha-o e segura-o com ambas as mãos. Olham para o espelho e depois o mais baixo diz qualquer coisa, e olham ambos para Perowne ao mesmo tempo, com uma curiosidade abrupta, como um veado perturbado no seu habitat. Ocorre-lhe pela primeira vez que pode estar numa situação de algum perigo. A rua, oficialmente fechada de ambos os lados, está deserta. Atrás deles, em Tottenham Court Road, um grupo isolado de manifestantes dirige-se para sul para se juntar ao grosso da manifestação. Perowne olha por cima do ombro. Atrás dele, em Gower Street, o desfile já começou. Milhares de pessoas congregadas numa coluna única e densa dirigem-se a Piccadilly, com as faixas inclinadas para a frente num ângulo heróico, como num cartaz revolucionário. Dos seus rostos, mãos e roupas emana uma cor intensa, quase quente, específica da congregação de muitos seres humanos. Para que o seu efeito seja mais dramático, caminham em silêncio a uma cadência marcada pelo toque fúnebre dos tambores.
Os três homens retomam a marcha. Como antes, é o mais baixo - um metro e sessenta, no máximo um metro e setenta - que vem à frente. Tem um passo característico, com uma pequena contorção e um salto e o tronco inclinado para a frente, como se empurrasse um barco com uma vara num curso de águas calmas. O barqueiro do Spearmint Rhino. Talvez esteja a ouvir música com uns auscultadores.
Há pessoas que não fazem nada, nem mesmo discutir, sem uma banda sonora. Os outros dois parecem subordinados, ajudantes. Vêm de ténis, fato de treino e boné - a moeda corrente das ruas, tão generalizada que já não é um estilo. Às vezes, Theo veste-se assim para, segundo diz, não ter de decidir qual é o seu aspecto. O tipo da cara de cavalo continua a agarrar o espelho com as duas mãos, presumivelmente para o utilizar como argumento. O incessante rufar dos tambores não ajuda à situação, e o facto de haver tantas pessoas por perto, mas sem darem por ele, faz Henry sentir-se ainda mais isolado. É melhor continuar a dar um ar de quem está ocupado. Baixa-se para ver o carro mais de perto e repara que há uma lata de Coca-Cola esmagada debaixo do pneu da frente. Nota então, com um misto de alívio e de irritação, que há uma superfície irregular na porta de trás, onde o brilho é menor, como se tivesse sido esfregada com uma lixa de esmeril. Foi certamente ali o ponto de contacto, confinado a uma área de pouco mais de meio metro. Fez muito bem em desviar-se antes de travar. Sente-se agora mais seguro e endireita-se para enfrentar os homens que, nesse momento, param à frente dele.
Ao contrário de alguns dos seus colegas - os psicopatas cirúrgicos -, Henry não gosta de confrontos pessoais. Não é do tipo de empunhar o machado de guerra. Mas a experiência clínica é, para além de tudo o mais, um processo abrasivo, que endurece, que vai necessariamente apagando qualquer tipo de sensibilidade. Os doentes, os estagiários, os familiares dos mortos, os tratamentos - inevitavelmente, ao longo de duas décadas, houve muitos momentos em que teve de enfrentar situações difíceis, de dar explicações ou de acalmar alguém quando ele próprio estava tomado de uma forte emotividade. Normalmente há muitas coisas em jogo: para os colegas, questões de hierarquia, de orgulho profissional ou de recursos desperdiçados; para os doentes, uma perda de capacidades; para os familiares, uma mulher ou um filho repentinamente mortos, situações muito mais importantes do que um carro riscado. Sobretudo quando envolvem doentes, aqueles momentos têm uma certa pureza e inocência; tudo é desmontado até chegar àquilo que é essencial à pessoa humana: a memória, a visão, a capacidade de reconhecer os rostos, a dor crónica, as funções motoras, até um certo sentido do eu. Por detrás disso, com um brilho ténue, estão as questões da ciência médica, as maravilhas de que é capaz, a fé que inspira e, opondo-se a tudo isso, a sua ignorância do cérebro e da mente - a diminuir, é certo, mas ainda vasta - e da relação entre ambos. Mexer regularmente no cérebro com algum sucesso, mesmo que modesto, é uma aventura relativamente recente. Tem necessariamente de ser frustrante uma vez por outra, e, quando isso acontece, os familiares acorrem ao seu gabinete, sem que ninguém tenha de calcular previamente como irá agir ou o que irá dizer - ninguém se sente observado. As palavras saem e pronto.
Entre os conhecidos de Perowne, há médicos que não lidam com o cérebro, mas apenas com a mente, com as doenças da consciência; esses seus colegas têm uma tradição, um conjunto de preconceitos, a que hoje em dia raramente dão voz, de que os neurocirurgiões são uns tolos arrogantes e disparatados munidos de instrumentos de gume cego, endireitas deixados à solta perante o objecto mais complexo que se conhece no universo. Quando uma operação falha, o doente ou os familiares têm tendência para regressar a esta ideia. Mas nessa altura é tarde de mais. O que é dito nesses momentos é trágico e sincero. Por aterradores que sejam aqueles momentos, por muito que ele saiba ter sido difamado pela impossibilidade de o doente se lembrar - ou por não querer lembrar-se - da explicação que lhe deu dos riscos inerentes à cirurgia, por muito certo que esteja de que agiu no bloco operatório o melhor que os conhecimentos e as técnicas correntes permitem, Perowne sente-se sempre punido - foi manifestamente incapaz de criar menos expectativas -, mas também estranhamente purificado: teve uma interacção humana fundamental, à sua maneira tão elementar como o amor.
Mas ali, em University Street, é impossível não sentir que vai começar uma representação. Está ao lado do seu potente carro, vestido como um espantalho, com um casaco sujo, uma camisola cheia de buracos, umas calças sujas de tinta e atadas com um cordel. Está preso a um papel e não tem maneira de se libertar dele. Como as pessoas gostam de dizer, é uma situação do drama urbano. Um século de filmes e meio século de televisão tiraram qualquer resquício de sinceridade àquela situação. É um puro artifício. Em cena estão os carros e os donos dos carros. De um lado os desconhecidos, cuja deixa será moldada pelo seu respeito por si próprios. Alguém vai ter de impor a sua vontade e vencer, e o outro vai ter de ceder. A cultura popular tornou esta questão insignificante à força de se repetir, este antigo património genético que também lubrifica os maquinismos da voz dos sapos, dos galos e dos veados ainda pequenos. Apesar da variedade e da informalidade do vestuário, há regras tão elaboradas como a politesse da corte de Versailles, que nenhum conjunto de genes consegue expressar. Para começar, não é permitido reconhecer perante eles a consciência que se tem do acontecimento nem a ironia que o envolve: o som dos passos e dos tambores tribais dos arautos da paz chega até eles vindo do cimo da rua. Para além disso, nada poderá prever-se, mas tudo parecerá bater certo assim que acontecer.
- Um cigarro?
Exactamente assim. É assim que tem de começar.
Num gesto antiquado, o outro condutor estende o maço com um ímpeto do pulso, dispondo os cigarros sem filtro como tubos de um órgão. A mão fechada que se estende
para Perowne é grande, condizente com a altura do homem, e muito pálida, com pêlos pretos encaracolados que se prolongam das costas da mão até às articulações interfalângicas distais. Outra coisa que atrai a atenção profissional de Perowne é um tremor persistente. Talvez a falta de firmeza daquele gesto seja uma solicitação de uma palavra tranquilizadora.
- Não fumo, obrigado.
O homem acende um cigarro para si e sopra o fumo para lá de Henry, que já perdeu um ponto - não é suficientemente homem para fumar ou, de um ponto de vista mais essencial, para oferecer alguma coisa. É importante não ser passivo. Terá de tomar uma atitude. Estende a mão.
- Henry Perowne.
- Baxter
- Mr Baxter?
- Baxter.
A mão de Baxter é grande, a de Henry é apenas muito ligeiramente maior, mas nenhum deles tenta fazer uma manifestação de força. O seu aperto de mão é breve e ligeiro. Baxter é um daqueles fumadores de cujos poros emana um perfume, uma substância oleosa que tem a ver com aquele hábito. O alho afecta algumas pessoas da mesma forma. Talvez isso esteja relacionado com os rins. É um homem ainda novo, nervoso, com uma cara pequena, sobrancelhas grossas e cabelo castanho-escuro quase rapado. A boca é bolbosa, com a sombra de uma barba forte escanhoada a contribuir para lhe dar o aspecto de um focinho. O ar simiesco fica ainda mais completo com uns ombros descaídos. Os trapezóides trabalhados sugerem que passa tempo no ginásio, talvez para compensar a altura. O fato estilo anos sessenta - corte justo, lapelas altas, calças sem vinco descaídas na cintura - mostra alguma tensão em torno do único botão apertado do casaco. O tecido também está um pouco esticado na zona dos bicípites.
Dá meia volta, baixa-se de costas voltadas para Perowne e depois torna a levantar-se. Parece irritado e impaciente, cheio de uma energia destruidora que tem de ser libertada. Pode estar prestes a começar à pancada. Perowne conhece alguma da literatura mais recente sobre violência. Nem sempre é uma patologia; alguns organismos sociais debruçados sobre si próprios consideram que por vezes é racional ser-se violento. As teorias de Thomas Hobbes são cada vez mais acarinhadas pelos estudiosos da teoria dos jogos e pelos criminologistas radicais. Controlar os desordeiros, os rufias, equivale ao famoso «poder comum» que mantém todos os homens sob domínio - um corpo dominante, um braço do estado, que recebe gratuitamente o monopólio do uso legítimo da violência. Mas nem os traficantes de droga nem os chulos, entre outros que vivem fora da lei, têm tendência para ligar o 112 para o Leviatã, preferindo resolver as suas disputas à sua maneira.
Perowne, quase trinta centímetros mais alto que Baxter, lembra-se de que, em caso de pancadaria, será melhor proteger os testículos. Mas é um pensamento ridículo; desde os oito anos que não se envolve em nenhuma luta corpo a corpo. Três contra um. Não permitirá, pura e simplesmente, que tal aconteça.
Imediatamente depois do aperto de mão, Baxter diz:
- Espero que esteja disposto a pedir-me sinceramente desculpa.
Olha para trás, para lá do Mercedes, para o seu carro, estacionado em diagonal no meio da rua. Atrás dele há uma linha irregular, a quase um metro do chão, traçada na parte lateral de meia dúzia de carros estacionados pelo puxador da porta do BMW. Basta que naquele momento apareça na rua o proprietário de um daqueles carros para se desencadear uma cascata de pedidos de indemnização às seguradoras. Henry, que sabe bem o que é a burocracia, está a sentir o trauma prolongado que ela provoca.
É muito melhor ser uma de muitas vítimas que o autor do pecado original.
- Na verdade, só lamento é que tenha arrancado sem ter olhado - diz Henry, surpreendido com aquele «na verdade» ligeiramente arcaico que habitualmente não faz parte do seu léxico. Utilizá-lo pressupõe algumas decisões; não quer pôr-se a falar caro em plena rua; quer apenas deixar bem visível a sua dignidade profissional.
Baxter pousa a mão esquerda sobre a direita, como que para a acalmar e diz pacientemente:
- Não precisava de olhar, pois não? Tottenham Court Road está fechada. Não estava à espera que viesse dali ninguém.
- As regras de trânsito mantêm-se em vigor - diz Perowne. - Além disso, foi um agente da polícia que me mandou passar.
- Um agente da polícia? - Baxter acentua a construção, dando-lhe uma sonoridade infantil. Volta-se para os amigos e pergunta: - Viram algum agente da polícia? - E depois, voltando-se de novo para Perowne, acrescenta com uma falsa boa educação: - Este é o Nark e este é o Nigel.
Até àquele momento estiveram os dois afastados para um dos lados, atrás de Baxter, a ouvir com um ar inexpressivo. Nigel é o da cara de cavalo. O seu companheiro pode ser um informador da polícia, um dependente de narcóticos ou, dado o seu aspecto comatoso, alguém com narcolepsia.
- Não há aqui nenhum polícia - explica Nigel. - Estão todos ocupados com essa pandilha dos manifestantes.
Perowne finge ignorar os dois homens. O seu problema é com Baxter.
- Temos de preencher a declaração do seguro. - Os três homens dão uma risada ao ouvir isto, mas ele continua. - Se não chegarmos a acordo sobre o que aconteceu.
temos de chamar a polícia. - Olha para o relógio. Jay Strauss já deve estar no court, a aquecer a bola. Ainda não é tarde de mais para resolver o assunto e pôr-se a caminho. Baxter não reagiu à referência ao telefonema. Em vez disso, tira o espelho lateral das mãos de Nigel e mostra-o a Perowne. As fissuras em teia de aranha do vidro mostram o céu em mosaicos brancos e de um azul irregular que lançam reflexos por causa da agitação da mão de Baxter. Diz num tom simpático:
- Felizmente para si, tenho um amigo que é bate-chapas e que leva barato. Mas trabalha bem. Acho que com umas setenta e cinco libras já me safo.
- Há um caixa automático ali à esquina - diz Nark, como se tivesse recobrado ânimo.
E Nigel, como se tivesse ficado agradavelmente surpreendido com a ideia, acrescenta:
- Pois é. Podemos ir consigo até lá.
Mudaram os dois de posição e estão quase, mas não completamente, a ladear Henry. Entretanto, Baxter chega-se para trás. As manobras são desajeitadamente deliberadas, como um bailado de crianças mal ensaiado. A atenção de Perowne, o seu olhar profissional, recai mais uma vez sobre a mão direita de Baxter. Não é apenas um tremor, é uma agitação nervosa que envolve praticamente todos os músculos. Especular sobre isso acalma-o, apesar de sentir os ombros dos dois homens exercerem uma ligeira pressão por sobre o seu casaco. Com alguma perversidade, já não considera correr grande perigo. É difícil levar aquele trio a sério; a ideia do caixa foi infantil, pura comédia. É como se tudo o que ali fora dito fosse uma citação de qualquer coisa que todos eles já tivessem visto muitas vezes e já quase tivessem esquecido.
Ao som de uma trombeta tocada por um conhecedor, os quatro homens voltam-se para verem a manifestação. É uma série de complexos staccatos, que terminam com uma nota aguda. Pode ser um trecho de uma cantata de Bach, porque Henry imagina imediatamente uma soprano com um ar doce e melancólico e, ao fundo, um violoncelo de apoio, tocado com formalidade. Em Gower Street, a ideia de uma marcha fúnebre de recriminação teve de ser abandonada. Era difícil manter milhares de pessoas numa coluna de centenas de metros. As palavras de ordem e os aplausos vão subindo e baixando de volume à medida que as diferentes secções de manifestantes vão passando pelo cruzamento com University Street. Baxter tem o olhar fixo na manifestação e o rosto ligeiramente distorcido, constrangido pela comiseração. Henry lembra-se de uma expressão de um texto, muito à semelhança do que aconteceu com a melodia da cantata - o aumento, mesmo que modesto, da sua adrenalina está a tornar o seu pensamento mais associativo que habitualmente. Ou então é a pressão da semana que passou que não o liberta dos seus hábitos, do jogo intelectual do diagnóstico. A expressão é um falso sentido de superioridade. Sim, pode ser uma ligeira alteração de carácter que antecede os primeiros tremores, um pouco menos incapacitante que outros problemas neurológicos, como a grandiosidade, a ilusão de grandeza. Mas pode não estar a lembrar-se bem. O seu campo não é a neurologia. Enquanto olha para os manifestantes, Baxter faz pequenos movimentos com a cabeça, pequenos acenos e sacudidelas. Ao observá-lo por alguns segundos, sem que ele note, Perowne compreende de repente - Baxter não consegue iniciar nem manter aqueles movimentos rápidos do olho entre um ponto de fixação e outro. Para ver a multidão, tem de mexer a cabeça.
Como que para confirmar esta observação, Baxter vira todo o corpo para Perowne e diz jovialmente:
- Que canalha horrorosa. Querem limpar a cara do país que odeiam.
Perowne sente que já percebeu o suficiente acerca de Baxter para concluir que é melhor pôr-se a andar. Afasta Nigel e Nark com os ombros e volta-se para o seu carro.
- Não vou dar-vos dinheiro - diz, com desdém. - Vou dar-lhe os meus dados. Se não quiser dar-me os seus, não faz mal. Basta-me a sua matrícula. Vou-me embora. - Depois acrescenta, fugindo um pouco à verdade - Estou atrasado para uma reunião importante.
No entanto, a maior parte da sua frase é obliterada por um único som, um grito de raiva.
No momento em que se vira, admirado, para Baxter e vê, ou sente, o que se dirige para ele a tanta velocidade, há ainda numa parte dos seus pensamentos alguém que faz um diagnóstico prosaico, distante e que nota a falta de autodomínio, instabilidade emocional, um temperamento explosivo, tudo isso sugestivo da diminuição dos níveis de GABA nos pontos de ligação adequados dos neurónios do estriado, o que por sua vez implica a presença reduzida de duas enzimas no estriado e no pálido lateral - a decarboxilase do ácido glutâmico e a acetilcolina-transferase. Há muita coisa nas relações humanas que pode ser explicada ao nível das moléculas complexas. Quem poderia alguma vez imaginar os danos infligidos ao amor e à amizade e a todas as esperanças de felicidade pelo excesso ou pela escassez deste ou daquele neurotransmissor? E quem iria descobrir uma moral ou uma ética entre as enzimas e os aminoácidos, quando a tendência geral é para olhar noutra direcção? No seu segundo ano em Oxford, Daisy, deslumbrada por um professor belo e louco, tentou convencer o pai de que a loucura era uma invenção social, um esquema inteligente pelo qual os ricos - nesse ponto pode ter percebido mal - espezinhavam os pobres. Pai e filha envolveram-se numa das suas acaloradas discussões, que terminou com Henry, numa jogada retórica, a propor à filha uma visita a um hospital psiquiátrico. Ela aceitou resolutamente e a questão foi esquecida.
Apesar da incapacidade de fixação ocular de Baxter e dos seus movimentos rápidos e nervosos, o soco dirigido ao coração de Perowne, e do qual este consegue desviar-se in extremis, acerta-lhe no esterno com uma força colossal - pelo menos é essa a sensação que ele tem, e talvez assim seja de facto- que faz irradiar por todo o seu corpo uma crispação, uma onda de choque, uma subida de tensão, um frémito violento, que parece transportar não tanto dor como um impulso eléctrico de estupefacção e um breve calafrio mortal com uma componente visual de cegueira, de uma brancura nívea.
- Muito bem - ouve Baxter dizer, como a dar uma instrução aos companheiros.
Agarram Henry pelos cotovelos e pelos antebraços e, quando a sua visão fica mais nítida, vê que está a ser empurrado para um espaço entre dois carros estacionados. Atravessavam rapidamente o passeio. Voltam-no, e fazem-no bater com as costas numa porta fechada com um cadeado num recanto. Henry vê na parede à sua esquerda uma placa de latão que diz «Saída de emergência, Spearmint Rhino». Ao cimo da rua há um pub, o Jeremy Bentham. Mas, se estiver aberto tão cedo, os clientes estão todos lá dentro, abrigados do frio. Perowne tem duas prioridades imediatas, que continuam a ser importantes quando recupera completamente a consciência. A primeira é manter a promessa que fez a si próprio de não ripostar. O murro serviu-lhe para ver como lhe falta perícia. A segunda é manter-se de pé. Já viu um número considerável de lesões cerebrais em pessoas que tiveram o azar de cair ao chão perante os seus agressores. O pé, como uma vila remota e atrasada, é uma província longínqua do cérebro, libertada de responsabilidades pela distância. Um pontapé é um gesto menos íntimo, menos envolvente que um murro, e um só pontapé nunca parece suficiente. Nos tempos épicos da violência no futebol, quando estava a fazer o estágio da especialidade, aprendeu muito sobre hematomas subdurais causados por pontapés com as biqueiras de aço dos sapatos Dos Martens.
Está voltado de frente para eles num pequeno recanto de tijolos caiados, bem longe da vista dos manifestantes. A estrutura amplifica o ruído áspero e desagradável da respiração deles. Nigel deita a mão ao casaco de Perowne e com a outra mão tenta tirar a carteira que está num bolso interior com um fecho de correr.
- Não - diz Baxter. - Não queremos o dinheiro dele.
Estas palavras levam Perowne a concluir que a defesa da honra vai ser feita através de uma boa sova. Repete-se a imagem que anteriormente teve em relação ao pedido de indemnização à seguradora: a perspectiva desoladora de várias semanas de dolorosa convalescença. Talvez até esteja a ser optimista. O olhar de Baxter está fixo nele, um olhar que não pode ser desviado sem que ele mexa a sua enorme cabeça rapada. O seu rosto é percorrido por pequenos tremores que não chegam a formar uma expressão. É uma agitação muscular que um dia - é essa a hipótese considerada por Perowne - se tornará atetóide, atormentada por movimentos involuntários e incontroláveis.
Há uma percepção no seio do trio de que é melhor fazer uma pausa para ganhar fôlego, para ganhar firmeza antes de passar à acção. Nark já está a cerrar o punho direito. Perowne repara que ele tem três anéis, no indicador, no dedo médio e no anelar, e pulseiras da largura de canos serrados. Restam-lhe alguns segundos. Baxter deve estar na casa dos vinte. Não é a altura indicada para lhe pedir que faça a história da família. Se um dos pais tiver a mesma doença, há cinquenta por cento de probabilidades de o filho também a ter. É o cromossoma quatro. O azar está num único gene, numa repetição excessiva de uma única sequência - CAG. É o determinismo biológico na sua forma mais pura. Mais de quarenta repetições desse pequeno trecho e fica-se condenado. O futuro fica determinado e é fácil de prever. Quanto mais prolongada for a repetição, mais precoce e mais grave será o início da doença. Entre
dez a vinte anos para completar o seu curso, entre as primeiras alterações de carácter, tremores nas mãos e no rosto, distúrbios emocionais, incluindo, de forma mais relevante, alterações de humor súbitas e incontroláveis, e os inevitáveis movimentos irregulares, a degradação intelectual, as falhas de memória, agnosia, apraxia, demência, perda total do controlo muscular, por vezes rigidez, alucinações semelhantes a pesadelos e um fim sem sentido. Assim, a brilhante maquinaria do ser é desfeita por um defeito na mais insignificante roda dentada, o murmúrio insidioso da degradação, uma única ideia má encerrada em todas as células, em todos os cromossomas quatro.
Nark está a puxar para trás o braço esquerdo para atacar. Nigel parece disposto a deixá-lo tomar a dianteira. Henry ouviu dizer que o aparecimento precoce da doença tende a responsabilizar o gene paterno. Mas talvez não seja assim. Não tem nada a perder em fazer uma conjectura. Fala sob a cólera do olhar de Baxter.
- O seu pai sofria disso. E agora você também sofre.
Por momentos vê-se como um curandeiro a proferir uma praga. É difícil avaliar a expressão de Baxter. Faz um movimento vago, febril, com a mão esquerda para refrear os companheiros. Há um momento de silêncio enquanto ele engole e se inclina para a frente, de testa franzida, como se quisesse suprimir uma obstrução da garganta. Perowne exprimiu-se de forma ambígua. Aquele «sofria» podia facilmente ter sido percebido como um «sofre». E quem sabe se o pai de Baxter, vivo ou morto, conheceria sequer o filho. Mas Perowne está a contar que Baxter saiba da doença que sofre. Se assim for, não terá dito a Nigel, nem a Nark, nem a nenhum dos seus amigos. É a sua vergonha secreta. Pode estar em processo de negação, sabendo sem querer saber; sabendo, mas preferindo não pensar nisso.
Quando finalmente Baxter fala, a sua voz está diferente, talvez cautelosa.
- Conheceu o meu pai.
- Sou médico.
- Uma merda é que é, assim vestido...
- Sou médico. Alguém lhe explicou o que lhe vai acontecer? Quer que eu lhe diga qual acho que é o seu problema?
Funcionou. A chantagem sem pudor resultou. Baxter fica subitamente irritado.
- Que problema? - Antes que Perowne possa responder, acrescenta furiosamente: - Importa-se de calar essa matraca? - Depois, com a mesma rapidez, acalma-se e dá meia volta. Estão juntos, ele e Perowne, num mundo não da medicina, mas da magia. Quando estamos doentes, não é aconselhável maltratarmos o xamã.
- O que é isto? O que é que o teu pai tinha? - pergunta Nigel.
- Cala-te.
O momento da tareia está a passar, e Perowne sente o poder a passar para si. Aquele recanto da saída de emergência é o seu consultório. A sua pequenez traz-lhe de volta o eco de uma voz que está a recuperar por inteiro o timbre da sua autoridade.
- Já falou com alguém sobre isso? - pergunta Henry.
- O que é que ele quer, Baxter?
Baxter atira o espelho partido para as mãos de Nark.
- Espera no carro.
- Estás a gozar!
- A sério. Vão os dois. Porra! Esperem no carro.
É dolorosamente evidente o desespero com que Baxter quer separar os amigos da pessoa que conhece o seu segredo. Os dois homens mais novos trocam um olhar e encolhem os ombros. Depois, sem olharem para Perowne, afastam-se em direcção à rua. É difícil imaginar que não lhes passe pela cabeça que Baxter tem um problema qualquer. Mas a doença está ainda numa fase inicial, e a sua progressão é lenta. Talvez não o conheçam há muito tempo. E aquele passo incerto, aquele curioso tremor,aqueles acessos arrogantes de mau génio e as variações de humor podem significar, no meio a que pertencem, que ele é um homem de personalidade forte. Quando chegam ao BMW, Nark abre uma das portas traseiras e atira o espelho lá para dentro. Depois encostam-se à parte da frente do carro, ao lado um do outro, a ver Baxter e Perowne, de braços cruzados, como polícias num filme. Perowne insiste com brandura:
- De que é que o seu pai morreu?
- Esqueça isso.
Baxter não olha para ele. Está agitado, com um ombro ligeiramente curvado, como uma criança amuada à espera de ser consolada, sem conseguir dar o primeiro passo. É este o principal sinal de muitas doenças neurodegenerativas - a rápida transição de um estado de humor para outro, sem que os que delas sofrem se dêem conta disso nem disso tenham memória e sem compreenderem qual a percepção que as outras pessoas têm disso.
- A sua mãe ainda é viva?
- Para mim, não.
- É casado?
- Não.
- O seu verdadeiro nome é Baxter?
- Isso é comigo.
- Tem razão. De onde é?
- Nasci em Folkestone.
- E onde é que vive agora?
- No antigo apartamento do meu pai. Em Kentish Town.
- Trabalha, estuda?
- Não me dei bem com a escola. O que é que você tem a ver com isso?
- E o que é que o seu médico disse da sua doença? Baxter encolhe os ombros. Mas reconheceu a Perowne
o direito de o interrogar. Voltaram cada um ao seu papel, e Perowne continua.
- Alguém lhe falou alguma vez da doença de Huntington?
Ouve-se um barulho ligeiro, seco, como pedras a chocalharem numa lata, vindo da manifestação. Baxter está a olhar para o chão. Perowne entende o seu silêncio como uma confirmação.
- Quer dizer-me quem é o seu médico?
- Porque é que eu havia de fazer isso?
- Podíamos encaminhá-lo para um colega meu. É bom médico. Podia tornar as coisas mais fáceis para si.
Ao ouvir isto, Baxter volta-se e inclina a cabeça na tentativa de fixar a imagem do homem mais alto na sua fóvea, a pequena depressão da retina onde a visão é mais aguda. Ninguém pode fazer nada em relação a uma lesão do sistema sacádico. Em geral, nem sequer há nada a fazer em relação à doença dele, a não ser ir tratando a degradação. Mas, naquele momento, Perowne detecta na expressão agitada de Baxter uma súbita avidez, uma fome de informação, ou até uma esperança. Ou talvez seja apenas uma necessidade de falar.
- Como?
- Com exercícios. Certos medicamentos.
- Exercícios... - repete a palavra com desdém. Tem razão ao notar a fatuidade, a fraqueza daquela ideia. Perowne insiste.
- O que é que o seu médico lhe disse?
- Disse que não há nada a fazer.
Di-lo como um desafio, como se reclamasse o pagamento de uma dívida; Perowne está a beneficiar de uma moratória, mas em troca disso tem de apresentar algum motivo de optimismo, senão mesmo uma cura. Baxter quer que ele desminta o seu médico.
- Acho que ele tem razão. Em finais dos anos noventa fez-se alguma investigação sobre a implantação de células estaminais, mas...
- Pois foi. O silenciamento dos genes. Talvez um dia. Quando eu já estiver morto.
- Está bem informado sobre a doença.
- Obrigado, doutor. Mas estava a falar de certos medicamentos?
Perowne conhece bem este impulso dos doentes para seguirem as mais pequenas pistas. Se houvesse algum medicamento, Baxter ou o seu médico conhecê-lo-iam. Mas Baxter tem necessidade de o confirmar. E tornar a confirmar. Pode ser que alguém saiba alguma coisa que ele não sabe. Numa semana pode haver um novo avanço. Quando neste campo já não há mais nada a dizer, os charlatões perfilam-se para o pior, propondo a dieta do caroço de damasco, a massagem da aura, o poder da oração. Perowne vê Nigel e Nark por cima do ombro de Baxter. Já não estão encostados ao carro, mas a andar de um lado para o outro à frente dele, a falar animadamente e a apontar para o cimo da rua.
- Estou a falar do alívio das dores, de ajuda em relação à perda de equilíbrio, aos tremores, à depressão.
Baxter move a cabeça de um lado para outro. Os músculos do seu rosto agitam-se isoladamente. Henry apercebe-se de que está próxima uma alteração de humor. Baxter não pára de murmurar para si próprio: «Foda-se!» Naquela fase transitória de perplexidade ou mágoa, as suas feições vagamente simiescas são atenuadas, quase atraentes. Parece inteligente e dá a impressão de, independentemente da doença, não ter tido grandes oportunidades na vida, ter cometido alguns erros graves e ter acabado em más companhias. Provavelmente desistiu de estudar há muito tempo e está arrependido disso. Não tem pais. E agora não poderia encontrar-se em pior situação. Não tem saída. Ninguém pode ajudá-lo. Mas Perowne sabe-se incapaz de compaixão. Há muito tempo que a experiência clínica lha fez perder. Além disso, uma parte dele está constantemente a calcular quando poderá sair em segurança daquele encontro. Por outro lado, não é caso para ter pena. O cérebro pode deixar-nos ficar mal de tantas formas...
À semelhança de um carro dispendioso, é algo de complexo, mas, ainda assim, produzido em massa, com mais de seis mil milhões de exemplares em circulação. Com toda a razão, Baxter acha que foi ludibriado e levado a prescindir de alguma violência, do exercício de algum poder e quanto mais pensa nisso mais furioso fica. Mais uma rápida mudança de tempo na sua mente. Aproxima-se uma nova frente depressiva, desta vez com turbulência. Pára de murmurar e aproxima-se o suficiente para Perowne sentir um odor metálico na sua respiração.
- Seu monte de merda - diz rapidamente, empurrando-o no peito. - Está a querer foder-me. À frente daqueles dois. Julga que me importo? Vá à merda. Vou chamá-los.
Do sítio onde se encontra, com as costas encostadas à saída de emergência, Perowne percebe que se aproxima mais um momento mau para Baxter, que volta as costas a Perowne e se dirige para o centro do passeio a tempo de ver Nigel e Nark afastarem-se do BMW em direcção a Tottenham Court Road.
Baxter dá uma pequena corrida para eles e grita:
- Ei!
Olham para trás, e Nark, com uma energia que não lhe é característica, faz-lhe um gesto insultuoso com o dedo. Continuam a andar, e Nigel mostra-lhe o seu desprezo com o punho. O general não teve capacidade de decisão, as tropas estão a desertar, a humilhação é total. Também Perowne vê a sua oportunidade perder-se. Atravessa o passeio, vai para a rua e dá a volta ao carro. As chaves estão na ignição. Quando põe o motor a trabalhar vê Baxter pelo espelho retrovisor, hesitante entre as diversas facções em debandada, a gritar para os dois lados. Perowne põe o carro a andar devagar. Por orgulho, não quer dar a impressão de que está com pressa. O seguro não tem qualquer importância e admira-se mesmo de lha ter dado. Vê a raqueta no banco da frente ao seu lado.
É o momento certo para se ir embora, enquanto ainda existe a possibilidade de salvar o seu jogo.
Depois de estacionar e antes de sair do carro telefona para o escritório de Rosalind - os seus dedos compridos ainda estão a tremer. Pressiona as teclas minúsculas de forma incerta. É um dia importante para ela, e não quer distraí-la com a história do seu quase acidente. Também não precisa de compaixão. Quer algo de mais fundamental, o som da sua voz numa troca quotidiana de palavras, o reatamento da sua existência normal. Pode haver algo mais tranquilizador e simples que marido e mulher a discutirem os pormenores do jantar dessa noite? Fala com uma estagiária que lhe diz que a reunião com o editor começou tarde e ainda está a decorrer. Pergunta-lhe se quer deixar recado, mas ele diz que volta a ligar mais tarde.
Não é habitual ver através das montras de vidro os courts de squash vazios num sábado. Passa ao lado deles, sobre a carpete azul com algumas nódoas, passa as enormes máquinas com Coca-Cola e tabletes energéticas, até que encontra o anestesista no último court, o número cinco, a bater a bola em toques rápidos e baixos contra a parede, com o aspecto de quem está a dar largas a um acesso de mau humor. Mas afinal só teve de esperar dez minutos. Mora do outro lado do rio, em Wandsworth; a manifestação obrigou-o a deixar o carro junto ao Festival Hall. Furioso por estar atrasado, atravessou a Ponte de Waterloo a correr e viu abaixo dele dezenas de milhares de pessoas no Enbankment em direcção a Parliament Square. Demasiado jovem para ter assistido aos protestos contra a Guerra do Vietname, disse que nunca tinha visto tanta gente no mesmo sítio. Apesar de ter as suas opiniões, sentiu-se comovido. Disse para si próprio que afinal aquilo era o processo democrático, por muitos inconvenientes que causasse. Ficou cinco minutos a ver e depois continuou o seu jogging por Kingsway, contra a corrente da multidão.
Descreveu tudo isto a Perowne enquanto, sentado no banco, este despia a camisola e as calças do fato de treino e punha num monte junto à parede a carteira, as chaves e o telefone - ele e Strauss nunca se empenham o suficiente para insistirem em terem um court só para eles.
- Bolas, eles não gostam do teu primeiro-ministro, mas odeiam o meu presidente.
Jay é o único médico americano que Perowne conhece que aceitou um enorme corte no salário e nos outros benefícios para trabalhar em Inglaterra. Diz que adora o sistema de saúde inglês. Também adorou uma inglesa, tiveram três filhos, divorciou-se dela, casou com outra beldade inglesa parecida com a primeira, mas doze anos mais nova que ele, tiveram mais dois filhos - ainda pequenos - e já vem o terceiro a caminho. Mas nem o seu respeito pela socialização da medicina nem o seu amor às crianças fazem dele um aliado da causa da paz. Na opinião de Perowne, a guerra que se avizinha não divide as pessoas de uma forma previsível; o facto de se conhecerem muitas opiniões não é um guia fiável. Para Jay, a questão é clara: a forma como as sociedades abertas lidarem com a nova situação mundial determinará até que ponto manterão a sua abertura. É um homem de certezas imperturbáveis, sem paciência para conversas sobre diplomacia, armas de destruição em massa, equipas de inspectores, provas de ligação à Al-Qaeda e por aí fora. O Iraque é um estado pária, um aliado natural dos terroristas, que fará inevitavelmente estragos, mais cedo ou mais tarde, e por isso mais vale ser atacado agora que as forças militares americanas andam mais ousadas, depois do Afeganistão. E quando diz «atacado» está a querer dizer libertado e democratizado. Os Estados Unidos têm de pagar o preço das suas políticas desastrosas no passado - pelo menos, têm essa dívida para com o povo iraquiano. Sempre que fala com Jay, Henry sente-se atraído pela facção contrária à guerra.
Strauss é um homem vigoroso, com os pés bem assentes na terra, um pouco atarracado, afectuoso, enérgico, directo - para alguns dos seus colegas ingleses torna-se cansativo por ser tão directo. Ficou completamente careca aos trinta anos. Passa mais de uma hora por dia no ginásio e tem um corpo de praticante de luta greco-romana. Quando está de volta dos seus doentes na sala de anestesia, a prepará-los para o esquecimento, eles sentem-se tranquilos com a visão dos músculos esculpidos dos seus braços, do seu pescoço e dos seus ombros fortes e com a forma como ele lhes fala - realista, alegre, sem paternalismo. Os doentes ansiosos acreditam que aquele americano atarracado seria capaz de dar a vida para lhes poupar sofrimento.
Trabalham juntos há cinco anos. Na opinião de Henry, Jay é a chave do sucesso da sua equipa. Quando as coisas correm mal, Strauss mantém a calma. Se, por exemplo, Henry for obrigado a cortar um grande vaso, Jay controla o tempo de uma forma tranquila e, para terminar, murmura:
- Tens um minuto, chefe. Depois saltas daí.
Nas raras ocasiões em que as coisas correm verdadeiramente mal, quando não há volta a dar, Strauss vai à procura dele mais tarde e, ao encontrá-lo sozinho num canto tranquilo do corredor, põe-lhe as mãos nos ombros, aperta-os ligeiramente e diz:
- Pronto, Henry, vamos lá falar agora do assunto. Antes que comeces a crucificar-te.
Não é a forma habitual de um anestesista falar com um cirurgião. Isso faz que Strauss tenha um exército de inimigos. Em certas comissões, Perowne já teve várias vezes de proteger as costas largas do seu amigo de algumas facadas. De vez em quando, dá consigo a dizer a Jay coisas do género:
- Não me interessa o que tu pensas. Vê se és simpático com ele. Lembra-te de que precisamos de fundos para o ano que vem.
Enquanto Henry faz alguns exercícios de alongamento, Jay volta para o court para manter a bola quente, fazendo algumas batidas à parede. Naquele dia os seus toques baixos parecem mais fortes, e a sequência de bolas rápidas tem de certeza a intenção de intimidar o adversário. Resulta. Perowne sente a reverberação do estalido da bola, semelhante à de um tiro, como uma opressão; sente uma rigidez que não é habitual no pescoço, quando empurra a mão esquerda contra o ombro direito. Levanta a voz para explicar a Strauss, através da porta de vidro aberta, a razão por que chegou atrasado, mas é um relato truncado, centrado sobretudo no risco no carro, na forma como o carro vermelho arrancou, obrigando-o a desviar-se, e nos estragos inesperadamente ligeiros da pintura. Não fala do resto, dizendo apenas que demorou algum tempo a resolver a situação. Não quer ouvir-se a si próprio a descrever Baxter nem os amigos. Strauss ficaria demasiado interessado e faria perguntas a que não lhe apetece responder ainda. Sente um desconforto cada vez maior em relação àquele encontro, uma inquietação que ainda não consegue definir, embora a culpa seja certamente um dos seus componentes.
Sente o joelho esquerdo dar um estalo ao alongar os tendões do joelho. Qual será a altura certa para desistir deste jogo? Quando fizer cinquenta anos? Ou antes? É melhor parar antes de fazer uma rotura num ligamento ou cair ao chão com o primeiro ataque cardíaco. Está a alongar os tendões da outra perna, e Strauss continua a bater as bolas rápidas. De repente, Perowne tem a sensação de que também a sua vida é frágil e preciosa. Os seus membros são como velhos amigos negligenciados, absurdamente longos e quebradiços. Estará ligeiramente em choque? O seu coração está certamente mais vulnerável depois daquele soco. Ainda lhe dói o peito. Tem para com os outros o dever de sobreviver e não pode pôr a sua vida em risco por causa de um simples jogo, de bater uma bola contra uma parede. E um jogo calmo de squash é coisa que não existe, sobretudo com Jay. Sobretudo com ele próprio. Ambos odeiam perder. Quando começam a jogar disputam os pontos como dois loucos. Devia pedir desculpa e ir-se embora agora, correndo o risco de irritar o amigo. Um preço despiciendo. Quando se levanta, Perowne apercebe-se de que aquilo que realmente lhe apetece é ir para casa e deitar-se no quarto a pensar sobre o que aconteceu em University Street, sobre a forma como devia ter lidado com a situação e o que correu mal.
Mas, no próprio momento em que está a pensá-lo, está também a pôr os óculos de protecção, a saltar para o court e a fechar a porta atrás de si. Ajoelha-se para pôr as suas coisas de valor num canto junto da parede. Não tem força de vontade para interromper a força do quotidiano, de um jogo de squash num sábado de manhã com um amigo e colega. Está do lado de fora do court, Strauss atira uma bola rápida, amigável, para o centro e Perowne devolve-a imediatamente pelo mesmo caminho. Este simples movimento lança-os na rotina familiar do aquecimento. Falha a terceira bola, acertando-lhe com força com o metal da raqueta. Alguns toques depois pára para apertar os atacadores. Não consegue acalmar-se. Sente-se lento e preso, não está a agarrar bem na raqueta, não está alinhado, as bolas são demasiado abertas ou demasiado fechadas, não sabe. Entre as batidas ajeita a raqueta. Ao fim de quatro minutos ainda não fizeram uma jogada decente. O ritmo fácil que normalmente os projecta no jogo está ausente. Repara que Jay abranda o ritmo e lhe oferece a bola em ângulos mais fáceis para a manter em jogo. Por fim, Perowne sente-se obrigado a dizer que está pronto. Como perdeu o jogo da semana anterior - foi esse o acordo que fizeram -, é ele a servir.
Ocupa a sua posição no lado direito da caixa de serviço. Atrás dele, do outro lado do court, ouve Jay murmurar «OK». O silêncio é total, com aquele sibilar raramente ouvido numa cidade; não há mais ninguém a jogar, não se ouve o barulho da rua, nem sequer da manifestação. Durante dois ou três segundos, Perowne olha para a bola preta compacta que tem na mão esquerda, esforçando-se por limitar a amplitude dos seus pensamentos. Faz um lançamento alto, bem colocado, que descreve um arco demasiado alto para um lançamento, e a bola bate na parede e retrocede. No preciso momento em que a bola parte, Perowne tem consciência de que a bateu com demasiada força. A bola retrocede da parede com alguma força residual, dando muito espaço a Jay para a bater para bem longe. A bola bate num canto, retrocede e Perowne apanha-a.
Quase sem pausa, Jay pega na bola para servir do lado direito. Perowne, percebendo o estado de espírito do adversário, fica à espera de uma batida com o braço por cima do ombro e inclina-se para a frente, preparado para bater na bola antes que ela atinja a parede lateral. Mas Strauss também fez os seus cálculos quanto a estados de espírito. Bate a bola suavemente, quase em ângulo recto ao ombro direito de Perowne. É o lançamento perfeito para um adversário indeciso. Chega-se para trás, mas tarde de mais e não o suficiente, e, meio confuso, perde a bola de vista. Bate-a para a frente do court, e Strauss responde com força, lançando-a para o canto do lado direito. Estão a jogar há menos de um minuto, Perowne perdeu o serviço, tem um ponto a menos e sabe que já perdeu o controlo. E o jogo continua assim, imparável durante os próximos cinco pontos, com Jay instalado no centro do court, e Perowne, confuso e defensivo, sem tomar qualquer iniciativa.
Aos seis a zero, Strauss comete finalmente um erro espontâneo. Perowne faz o mesmo lançamento alto, mas desta vez a bola bate na parede do fundo. Strauss tenta cortá-la, mas a bola bate na linha mais próxima e Perowne fica espantado com o afundanço que consegue fazer. Esse pequeno assomo de euforia permite-lhe concentrar-se.
Faz os três pontos seguintes sem problemas e no último bate a bola antes de ela tocar no chão e ouve Jay praguejar contra si próprio enquanto se dirige para o fundo do court. Agora a autoridade mágica e todas as iniciativas pertencem a Henry. Apoderou-se do centro do court e está a obrigar o adversário a correr da frente para trás. Ao fim de pouco tempo já está a ganhar por sete seis e tem a certeza de que vai fazer os dois pontos seguintes. No preciso momento em que o pensa faz o lançamento descuidado que atravessa o court e que Strauss corta, atirando a bola para o canto com uma batida impecável. Perowne consegue resistir à tentação de se odiar a si próprio, enquanto se dirige para o lado esquerdo do court para receber o serviço. Mas quando a bola se dirige para ele a sua concentração é abalada por pensamentos indesejados. Vê a figura patética de Baxter pelo espelho retrovisor. Era precisamente nesse momento que devia ter avançado para apanhar a bola antes de ela bater no chão - podia ter-se esticado para a bater, mas hesitou. A bola bate na junção entre a parede e o chão e rola de forma insultuosa sobre o seu pé. Foi um golpe de sorte e, no seu estado de irritação, apetece-lhe dizê-lo. Sete igual. Até ao fim não há qualquer luta. Perowne sente que se desloca no meio de um nevoeiro mental, e Jay faz os últimos dois pontos em rápida sucessão.
Nenhum deles tem quaisquer ilusões em relação ao jogo. São jogadores mais ou menos decentes, ambos à beira dos cinquenta. Combinaram que entre jogos - jogam à melhor de cinco - fazem um intervalo para que o seu ritmo cardíaco volte ao normal. Às vezes até se sentam no chão. Hoje o primeiro jogo não foi muito cansativo, por isso andam calmamente de um lado para o outro do court. O anestesista quer saber como está Andrea Chapman. Teve de fazer um esforço para ser amigável com ela. Os modos desabridos da rapariga não se coadunavam com a conversa que Perowne, ao passar no corredor, ouviu Strauss a ter com ela.
O anestesista fora à enfermaria para se apresentar e dera com uma enfermeira filipina lavada em lágrimas por qualquer coisa que ela lhe tinha dito. Strauss sentou-se na cama e encostou a cara à da rapariga.
- Ouve, querida. Se queres que a gente te conserte a cabeça, tens de nos ajudar. Estás a ouvir? Se não queres que a gente ta conserte, podes ir para casa e levar a tua má educação contigo. Temos muitos doentes à espera da tua cama. As tuas coisas estão aqui no armário. Queres que comece a metê-las no saco? Está bem. Aqui vai. Escova de dentes, discman, escova do cabelo... Não? Então como é que vai ser? Muito bem. Vou tirar tudo outra vez. Não, olha, estou mesmo a tirar tudo. Se nos ajudares, nós ajudamos-te. Combinado? Vamos lá dar um aperto de mão.
Perowne informa-o de que ela está melhor.
- Gosto da miúda - diz Jay. - Faz-me pensar em mim quando tinha a idade dela. Chateava toda a gente. Podia acalmar-se. Podia fazer qualquer coisa por ela própria.
- Ela vai-se safar desta - diz Perowne, posicionando-se para receber. - Pelo menos, se quiser estampar-se, a decisão será dela. Vamos.
Falou cedo de mais. Jay serviu, mas a palavra «estampar-se» trouxe-lhe memórias da manhã e fragmentou-se numa dezena de associações. De repente lembra-se de tudo o que lhe aconteceu ultimamente. A praça gelada e deserta, o avião com o seu trilho de fogo, o seu filho na cozinha, a sua mulher na cama, a sua filha a caminho, vinda de Paris, os três homens na rua - ou está nas coordenadas temporais erradas ou está em todas ao mesmo tempo. A bola apanha-o de surpresa; é como se por momentos tivesse saído do court. Apanha a bola tarde de mais, agarrando-a quase no chão. Strauss dá imediatamente um salto do T para uma batida mortífera. Ou seja, o segundo jogo começa exactamente como o primeiro. Mas desta vez Henry vai ter de correr muito para perder.
Jay está disposto a deixar o jogo avançar sem pontos, enquanto avança para o centro do court, salta para trás, se inclina para a frente e estuda os ângulos das suas batidas. Perowne corre à volta do seu adversário como um pónei no circo. Inclina-se para trás para desviar as bolas dos cantos do fundo, depois estica-se para a frente para apanhar as bolas baixas. A constante mudança de direcção da bola deixa-o tão cansado como o crescente ódio por si próprio. Porque se ofereceu, porque chegou a antever com prazer aquela humilhação, aquela tortura? É em momentos de um jogo como aquele que os aspectos essenciais do seu carácter vêm ao de cima - tacanho, ineficaz, estúpido -, também moralmente. O jogo torna-se uma longa metáfora dos seus defeitos de carácter. Todos os erros que comete são tão profundamente, tão irritantemente típicos em si próprio, tão instantaneamente familiares, quase uma assinatura, como uma cicatriz ou uma deformação num sítio privado. Tão íntimos e esclarecedores como a sensação da sua língua dentro da boca. Só ele pode enganar-se assim e só ele merece perder daquela forma. À medida que vai perdendo pontos vai buscar a energia que lhe resta a um charco de fúria.
Não diz nada, nem a si próprio nem ao seu adversário. Não permitirá que Jay o ouça praguejar. Mas o silêncio é outra maneira de sofrer. O resultado está em oito três. Jay lança uma bola através do court, talvez por engano, porque a bola fica solta, disponível para ser interceptada. Perowne vê que tem ali uma oportunidade. Se conseguir apanhá-la, Jay ficará fora de posição. Consciente disso, Jay avança para o centro do court, bloqueando o caminho a Perowne. Perowne pede imediatamente um let. Param, e Strauss volta-se e exprime a sua surpresa.
- Estás a gozar?
- Caraças! - diz Perowne, com uma respiração furiosa e apontando com a raqueta no sentido para onde se dirigia. - Puseste-te à minha frente.
Ambos ficam surpreendidos com aquela linguagem. Strauss cede imediatamente.
- Pronto, está bem, é um let.
Ao dirigir-se para a caixa de serviço, Perowne tenta acalmar-se e pensa que, com um resultado de oito três e já com um jogo de vantagem, é uma indelicadeza de Jay questionar um apelo tão óbvio. «Indelicadeza» até é um termo delicado. Esse pensamento não o ajuda a fazer o serviço que precisava de fazer pois é a sua última oportunidade de voltar ao jogo. A bola afasta-se tanto da parede que Jay não tem qualquer problema em dar um salto para a esquerda e apanhá-la sem ter de mudar de mão. É ele a servir, e o jogo acaba passado meio minuto.
Neste momento a perspectiva de passar alguns minutos na conversa no court é insuportável para Henry. Pousa a raqueta, tira os óculos e diz entre dentes que tem de ir beber água. Deixa o court e vai ao vestiário, onde há um bebedouro. Não está lá ninguém a não ser alguém que não se vê e que está a tomar duche. Na parede há uma televisão sintonizada para um canal de notícias. Molha a cara no lavatório e descansa a cabeça nos braços. Sente o coração a bater nos ouvidos, o suor escorre-lhe pelas costas, tem a cara e os pés a escaldar. Só quer uma coisa na vida. Tudo o resto deixou de interessar. Tem de ganhar a Strauss. Tem de ganhar três jogos seguidos para ganhar o set. É incrivelmente difícil, mas de momento não consegue desejar nem pensar em mais nada. Tem um ou dois minutos a sós para pensar cuidadosamente sobre o seu jogo, concentrar-se no principal, decidir o que está a fazer de errado e alterá-lo. Já ganhou muitas vezes a Strauss. Tem de deixar de estar zangado consigo próprio e de pensar no jogo.
Quando levanta a cabeça vê no espelho do lavatório, para lá do seu rosto vermelho, o reflexo da televisão sem som que está atrás de si, mostrando as mesmas imagens do avião de carga na pista. Depois, por instantes, como a espicaçar a curiosidade, dois homens de casaco por cima da cabeça - os pilotos, de certeza - a serem levados, de algemas, para uma carrinha da polícia. Foram presos. Aconteceu qualquer coisa. Um jornalista fala para a câmara à porta de uma esquadra da polícia. Depois o pivot fala com o jornalista. Perowne muda de posição para deixar de ver o ecrã. Não será possível ter um momento de lazer sem aquela invasão, sem aquele contágio do domínio público? Começa a ver a questão resolver-se em termos simples: ganhar o jogo será uma afirmação da sua privacidade. Tem o direito, tanto neste momento como durante o jogo - é um direito que assiste a toda a gente -, de não ser perturbado pelos acontecimentos mundiais, nem sequer por coisas que acontecem na rua. Ao acalmar-se no vestiário, Perowne tem a sensação de que esquecer, apagar todo um universo de fenómenos públicos para se concentrar é uma liberdade fundamental. Liberdade de pensamento. Irá emancipar-se derrotando Strauss. Agitado, anda de um lado para o outro entre os bancos do vestiário, desviando os olhos de um adolescente assustadoramente obeso, mais baleia que ser humano, que sai do duche sem toalha. Não tem muito tempo. Tem de organizar o jogo em torno de uma táctica simples - aproveitar as fraquezas do adversário. Strauss só tem um metro e cinquenta e dois, não tem grande alcance e os seus lançamentos não são brilhantes. Perowne decide-se por lançamentos altos para os cantos da retaguarda. Tão simples como isso. Jogar alto para trás.
Quando regressa ao court o anestesista vem imediatamente ter com ele.
- Sentes-te bem, Henry? Estás chateado?
- Estou. Comigo próprio. Mas ter de discutir aquele let não ajudou nada.
- Tinhas razão. Fiz asneira. Desculpa. Estás pronto? Perowne está na posição de recepção, concentrado no ritmo da sua respiração, preparado para um único movimento, eventualmente um movimento-padrão: vai bater a bola antes de ela tocar na parede lateral e, depois de Strauss a bater, irá até ao T do centro do court e jogará a bola por alto. É simples. Está na hora de tirar Strauss do pódio.
- Estou pronto.
Strauss lança uma bola rápida que, mais uma vez, parece dirigida ao seu corpo, directamente ao ombro. Perowne consegue acertar com a raqueta na bola, que segue mais ou menos o percurso que ele queria e agora está em posição no T. Strauss apanha a bola no canto, e ela vem ao longo da mesma parede lateral. Perowne avança e torna a golpear a bola, que é batida mais algumas vezes pela parede do lado esquerdo até que Perowne consegue arranjar espaço atrás de si para a levantar para o canto do lado direito. Jogam ao longo de toda essa parede em vários movimentos directos, entrando e saindo do trajecto um do outro, e depois interceptam bolas por todo o court, com a vantagem a passar ora para um, ora para o outro.
Já tiveram outros jogos como aquele - desesperados, loucos, mas também hilariantes, como se a verdadeira contenda fosse ver quem cede primeiro de tanto rir. Mas desta vez é diferente. É desprovido de humor, é mais demorado e mais desgastante, pois dois corações com aquela idade não podem estar a bater a cento e oitenta pulsações por minuto durante muito tempo e em breve um deles vai ficar cansado e começar a atrapalhar-se. E, naquele jogo meramente social, sem espectadores, algo absurdo, os dois homens estão possuídos pela urgência de fazerem um ponto. Apesar do pedido de desculpas, o let da discórdia continua entre eles. Strauss deve ter adivinhado que Perowne esteve a concentrar-se no vestiário. Se conseguir resistir ao seu ataque, ele ficará rapidamente desmoralizado e Strauss poderá ganhar o jogo em três sets seguidos. Quanto a Perowne, a questão está nas regras do jogo; enquanto não ganhar o serviço, não pode começar a fazer pontos.
Numa longa série de jogadas, é possível uma pessoa tornar-se virtualmente inconsciente, reduzindo-se à fatia mais estreita do presente, limitando-se a reagir, concentrando-se num toque de cada vez, existindo apenas para continuar a jogar. Perowne já atingiu esse estado e está completamente mergulhado no jogo quando se lembra de que delineou um plano de jogo. Nessa preciso momento, a bola bate no chão a pouca distância dele, e Perowne consegue apanhá-la e batê-la para o canto esquerdo traseiro. Strauss levanta a raqueta para interceptar a bola e depois muda de ideias e corre para trás. Lança a bola para longe, e Perowne corre para a apanhar. É difícil correr de um canto ao outro para apanhar a bola quando se está cansado. De cada vez que acerta na bola, Strauss geme um pouco mais alto, e Perowne sente-se encorajado. Resiste ao kill shot, porque acha que vai falhar. Em vez disso, continua a jogar bolas altas, cinco vezes seguidas, para cansar o adversário. Consegue o ponto ao quinto toque, quando a bola sem força de Strauss acerta na chapa.
Zero igual. Pousam as raquetas e ficam dobrados, sem fôlego, de mãos nos joelhos, a olhar para o chão sem verem nada, ou então encostam a cara e as palmas das mãos às paredes brancas para se refrescarem ou deambulam sem destino pelo court, limpando a testa com as t-shirts e gemendo. Noutras alturas estariam a analisar aquele ponto, mas naquele dia nenhum deles fala. Ansioso por forçar o ritmo, Perowne declara-se pronto primeiro e espera na caixa de serviço, batendo a bola no chão. Serve por cima da cabeça de Strauss, e a bola, agora mais fresca e menos rígida, vai parar a um canto. Um zero, sem qualquer esforço. Pode ser este, e não o anterior, o ponto importante. Agora Perowne tem a seu favor a sua altura e a sua envergadura. O ponto seguinte é dele, e o outro também. Strauss está a ficar exasperado por uma série de serviços idênticos e, como as jogadas são rápidas e entrecortadas, a bola mantém-se fria e inerte, difícil de interceptar num espaço pequeno. À medida que vai ficando mais aborrecido, Jay vai perdendo competência. Não consegue apanhar a bola no ar, não consegue apanhá-la por baixo quando vai a cair. Há dois serviços de que se limita a desviar-se e vai para a caixa esperar pelo seguinte. É a repetição, o mesmo ângulo, a mesma altura impossível, a mesma bola sem vida que está a enervá-lo. Em pouco tempo, perde seis pontos.
Perowne está morto por se rir às gargalhadas - um impulso que disfarça tossindo. Não pretende vangloriar-se, não se sente triunfante - é demasiado cedo para isso. É o prazer do reconhecimento, um riso complacente. Está divertido porque sabe exactamente o que Strauss está a sentir: está demasiado familiarizado com a espiral descendente de irritação e inépcia, os pequenos transes da aversão por si próprio. É hilariante reconhecer como as imperfeições de outra pessoa são tão parecidas com as nossas. Sabe também como o seu serviço é irritante. Ele próprio não seria capaz de lhe reagir. Mas Strauss foi impiedoso quando estava a ganhar, e Perowne precisa dos pontos. Por isso continua, lançando a bola por cima da cabeça do adversário, cruzando-a o necessário para ganhar o jogo. Nove zero.
- Tenho de ir à casa de banho - diz Jay de forma concisa, ainda com os óculos postos e a raqueta na mão.
Perowne não acredita nele. Apesar de achar que é uma medida sensata, a única forma de interromper a hemorragia de pontos, e de ele próprio ter feito a mesma coisa há menos de dez minutos, sente-se enganado. Com o seu serviço enfurecedor, podia ganhar também o set seguinte. Strauss deve estar agora a arrefecer a cabeça sob a torneira e a repensar o seu jogo.
Henry resiste à tentação de se sentar. Em vez disso, sai do court para ir espreitar os outros jogos - está sempre à espera de aprender alguma coisa com jogadores de maior classe. Mas naquele dia o clube está deserto.
Ou os seus membros estão na manifestação contra a guerra ou não conseguiram descobrir caminho pelo centro de Londres. Ao regressar ao seu court levanta a t-shirt para observar o peito. Tem uma enorme nódoa negra do lado esquerdo do esterno. Dói-lhe quando estica o braço esquerdo. O facto de estar a olhar para aquela mancha na pele ajuda-o a centrar os seus pensamentos agitados em Baxter. Será que ele, Henry Perowne, teve uma atitude pouco profissional ao utilizar os seus conhecimentos médicos para debilitar um homem com uma doença neurodegenerativa? Teve. A ameaça de uma tareia pode ser aceite como desculpa? Pode, não pode, não inteiramente. Mas aquele hematoma, da cor de uma beringela e do diâmetro de uma ameixa - só uma pequena amostra do que podia ter-lhe acontecido - significa que está desculpado. Só um louco teria ficado ali parado a levar uma tareia quando havia uma saída. Então o que está a perturbá-lo? É estranho, mas, apesar de toda a violência, quase gostou de Baxter. Não, isso é forte de mais. Ficou intrigado com ele, com a sua situação desesperada e a sua recusa em desistir. E havia nele igualmente um conhecimento real dos factos e o desânimo por estar a seguir por caminhos errados na vida. E ele, Henry, fora obrigado, ou mesmo forçado, a abusar do seu próprio poder, embora tenha sido Baxter a permitir-lhe colocar-se nessa posição. A sua atitude fora errada desde o princípio, insuficientemente defensiva; pode ter dado a sensação de estar a ser pomposo ou desdenhoso. Ou, quem sabe, provocador. Podia ter sido mais simpático, ter até aceite o cigarro; devia ter-se descontraído, ter abdicado daquela posição de força e, em vez disso, fora indigno e combativo. Por outro lado, eles eram três, queriam o dinheiro dele, estavam ansiosos por violência, já estavam a planeá-la antes de saírem do carro. O facto de o espelho lateral se ter partido era uma desculpa para uma agressão. Volta ao court, com o mesmo constrangimento, no momento em que Strauss aparece.
Os seus ombros largos estão molhados por causa do intervalo junto ao lavatório e o seu bom humor está de volta.
- Muito bem - diz quando Perowne se dirige para a caixa do serviço. - Agora é a doer.
Perowne sente que o facto de ter ficado a sós com os seus pensamentos o deixou um pouco incapacitado; antes de servir recorda o seu plano de jogo. Mas o quarto jogo não segue um padrão óbvio. Faz dois pontos, depois Strauss entra melhor no jogo e fica em vantagem com três dois. Há jogadas longas, fragmentadas, com erros espontâneos de ambos os lados, até que o resultado chega a um empate a sete pontos, sendo Perowne a servir. Faz os últimos dois pontos sem qualquer problema. Dois jogos para cada um.
Fazem um intervalo rápido para se prepararem para a batalha final. Perowne não está cansado - ganhar jogos é menos exigente em termos físicos do que perdê-los. Mas sente-se esgotado por aquele desejo feroz de derrotar Jay e não se importaria nada de ficar pelo empate e ir-se embora. A sua manhã tem sido toda ela uma forma de combate. Mas não tem hipótese de desistir. Strauss está a desfrutar do momento, a jogar com empenho e, no momento em que se dirige para a sua posição, diz «Lutar até à morte!» e «No pasaran!»
Assim, reprimindo um suspiro, Perowne serve e, como está sem ideias, cai no mesmo padrão de bolas altas. Aliás, no momento em que bate a bola sente que foi quase perfeito, uma bola alta exactamente dirigida para o canto. Mas o estado de espírito de Strauss é peculiar, está muito entusiasmado, e faz uma coisa extraordinária. Com um pequeno salto em corrida, eleva-se talvez sessenta centímetros, ou quase um metro, e, com a raqueta completamente esticada, as suas costas fortes, musculadas num arco gracioso, os dentes cerrados, a cabeça inclinada para trás e o braço esquerdo levantado para ajudar ao equilíbrio, apanha a bola antes de ela atingir o ponto mais alto da sua trajectória com uma pancada quase de chicote que a desvia para a parede da frente, a não mais de um metro da chapa - uma jogada maravilhosa, inspirada, inigualável. Perowne, que quase nem se mexeu do lugar onde estava, di-lo instantaneamente. Uma jogada fabulosa. De repente, com o serviço nas mãos do seu adversário, sente de novo o desejo de ganhar.
Ambos elevam a qualidade do jogo. Agora cada ponto é um drama, uma curta encenação com trocas rápidas, e toda a intensidade e fúria da longa jogada do terceiro jogo regressa ao court. Sem prestarem atenção aos protestos dos seus corações, percorrem rapidamente todos os cantos do court. Não há erros fortuitos, cada ponto é disputado, tirado à força ao outro. O que vai servir diz, ofegante, o resultado, mas tirando isso ninguém diz mais nada. E o jogo vai avançando, sem que nenhum consiga ter mais de um ponto de vantagem. Não há nada em jogo - não estão a disputar nenhum lugar no clube. Há apenas a vontade irredutível de ganhar, tão biológica como a sede. E é uma vontade pura, pois não há ninguém a ver, ninguém que se interesse, nem os amigos, nem as mulheres, nem os filhos. Nem sequer dá prazer. Talvez venha a dar, visto em retrospectiva - mas apenas para o vencedor. Se alguém parasse junto à parede de vidro da retaguarda, pensaria de certeza que aqueles jogadores já idosos tinham sido famosos no seu tempo e agora ainda tinham algum dinamismo. Pensaria também se não seria um jogo de desforra, tamanho era o desespero e a tensão dos jogadores.
Dez minutos de jogo parecem demorar meia hora. Aos sete igual, é Perowne que serve da caixa de serviço do lado esquerdo e ganha o ponto. Atravessa o court. Está concentrado e confiante e por isso o seu serviço é bom e forte e dirigido a um ângulo apertado, perto da parede. Strauss intercepta a bola com uma pancada quase de ténis, fazendo-a cair na parte da frente do court. É uma boa jogada, mas Perowne está em posição e inclina-se para a frente, apanhando-a quando vai a subir e atirando-a para o canto traseiro do lado esquerdo. Fim do jogo e vitória.
No momento em que joga a bola, dá um passo para trás - e choca com Strauss. É um encontrão forte, que obriga os dois a dobrarem-se e os faz ficar por instantes incapazes de falar.
Depois Strauss diz, num tom tranquilo, mas por entre uma respiração ruidosa:
- É ponto para mim, Henry.
- Acabou, Jay. Três jogos a dois.
Tornam a fazer uma pausa para avaliar a dimensão desta diferença calamitosa.
- O que é que estavas a fazer na parede da frente? - pergunta Perowne.
Jay afasta-se, dirigindo-se para a zona onde receberá o serviço se retomarem o jogo. Quer despachar o assunto, à sua maneira.
- Pensava que ias atirar a bola para baixo para a direita - responde.
Henry tenta sorrir. Tem a boca seca, e os lábios não deslizam facilmente sobre os dentes.
- Quer dizer que te enganei. Estavas fora de posição. Não podias tê-la apanhado.
O anestesista abana a cabeça com a calma prosaica que tanto tranquiliza os seus doentes. Mas o seu peito mostra que a sua respiração está acelerada.
- A bola ressaltou na parede do fundo. Vinha com muito balanço. Estavas mesmo no meu caminho, Henry.
Aquela utilização do primeiro nome um do outro está cheia de veneno. Henry não consegue resistir a isso. Fala como se quisesse lembrar a Strauss um facto há muito esquecido.
- Mas, Jay, tu nunca podias ter apanhado aquela bola. Strauss olha Perowne nos olhos e diz-lhe calmamente:
- Podia, Henry.
A injustiça da afirmação é tão flagrante que Perowne só consegue repetir-se:
- Estavas fora de posição.
- Isso não é contra as regras - diz Strauss, acrescentando depois - Vá lá, Henry. Da última vez dei-te o benefício da dúvida.
Com que então está a cobrar uma dívida. O tom racional de Perowne torna-se ainda mais difícil de manter.
- Não havia dúvidas - diz rapidamente.
- Claro que havia.
- Olha, Jay. Isto não é fórum sobre a igualdade de oportunidades. Temos de dar ao caso a importância que merece.
- Concordo. Não é preciso nenhum sermão.
A pulsação de Perowne, que estava a estabilizar, torna a aumentar com a resposta de Strauss. Um momento de raiva súbita é como um batimento cardíaco a mais, um ataque de arritmia inútil. Tem mais que fazer. Tem de passar pela peixaria, ir para casa, tomar duche, voltar a sair, regressar a casa, fazer o jantar, abrir o vinho, receber a filha e o sogro, pô-los de bem um com o outro. Mas, mais do que isso, precisa do que já é seu; recuperou de uma desvantagem de dois jogos e acredita que demonstrou a si próprio algo que é essencial à sua própria natureza, algo que ultimamente esquecera. Algo que agora o seu adversário quer roubar-lhe ou negar-lhe. Pousa a raqueta no canto onde estão as suas coisas para mostrar que o jogo acabou. Da mesma forma, Strauss mantém-se resolutamente na caixa de serviço. Nunca lhes aconteceu nada assim. O problema será com outra coisa qualquer? Jay está a olhar para ele com um sorriso discreto e complacente, com os lábios cerrados, uma expressão inteiramente artificial, destinada a reforçar a sua posição. Henry imagina-se, e o seu ritmo cardíaco aumenta outra vez por causa desse pensamento, a atravessar o parquet em quatro passadas para desfazer aquela expressão complacente com uma bofetada rápida. Também podia encolher os ombros e ir-se embora do court. Mas a sua vitória perderá o significado sem a aprovação do adversário. Pondo as fantasias de parte, como podem eles resolver o assunto, sem árbitro, sem um poder reconhecido por ambos?
Há meio minuto que nenhum deles fala. Perowne afasta as mãos e diz num tom tão artificial como o sorriso de Strauss:
- Não sei o que hei-de fazer, Jay. Só sei que ganhei. Mas Strauss sabe exactamente o que tem a fazer. Sobe a parada.
- Henry, tu estavas voltado para a frente. Não viste a bola a ressaltar na parede de trás. Eu vi porque estava a dirigir-me para lá. Por isso, a questão é esta: estás a chamar-me mentiroso?
E é assim que termina.
- Vai à merda, Strauss - diz Perowne, pegando na raqueta e dirigindo-se para a caixa de serviço.
Jogam o let, Perowne serve e, tal como suspeitava que pudesse acontecer, perde não só esse ponto como os três seguintes e, quase sem dar por isso, o jogo acaba, perdeu e vai ao canto onde estão as suas coisas e apanha a carteira, o telemóvel, as chaves e o relógio. Fora do court, veste as calças, prende-as com o cordel, põe o relógio, veste a camisola e o casaco. Está aborrecido, mas menos do que há dois minutos. Volta-se para Strauss que vem a sair do court:
- Jogaste muito bem. Lamento a discussão.
- Esquece essa merda. Qualquer de nós podia ter ganho. Foi um dos nossos melhores jogos.
Guardam as raquetas nos estojos, que põem ao ombro. Livres de linhas vermelhas, do branco ofuscante das paredes e das regras do jogo, vão até à máquina da Coca-Cola que fica ao lado dos courts. Strauss compra uma lata. Perowne não quer. É preciso ser-se americano para, em adulto, gostar de uma coisa tão doce.
Quando saem do edifício, Strauss pára para beber e diz:
- Está toda a gente a ficar com gripe, e hoje à noite estou de serviço.
- Já viste a lista da próxima semana? - pergunta Perowne. - É outra vez tramada.
- Pois é. Aquela velhota com o astrocitoma. Não se vai safar, pois não?
Estão parados nos degraus que descem até ao passeio de Huntley Street. Agora há mais nuvens, e o ar está frio e húmido. É bem possível que caia uma chuvada em cima da manifestação. A senhora chama-se Viola e tem um tumor na região pineal. Tem setenta e oito anos e nos anos sessenta trabalhou como astrónoma no Observatório de Jodrell Bank. Na enfermaria, enquanto os outros doentes vêem televisão, lê livros de matemática e sobre a teoria dos filamentos. Apercebendo-se da menor luminosidade, da penumbra do final de uma manhã de Inverno, e sem querer contribuir para um ambiente de desânimo, como para uma maldição, Perowne diz:
- Acho que vamos poder ajudá-la. Compreendendo-o, Strauss faz uma careta, levanta a mão em sinal de despedida, e cada um segue o seu caminho.
De regresso à privacidade confortável do seu carro amolgado, com o motor a trabalhar sem ruído numa Huntley Street deserta, Henry tenta de novo falar com Rosalind. A sua reunião já acabou e ela foi logo para o gabinete do editor, onde ainda está, passados quarenta e cinco minutos. A secretária, temporária, pede-lhe que espere enquanto vai tentar obter mais informações. Enquanto espera, Perowne encosta-se ao apoio da cabeça e fecha os olhos. Sente a impressão do suor seco na cara, nos sítios onde fez a barba. Os dedos dos pés, que experimenta mexer, parecem fechados num meio líquido em arrefecimento rápido. A importância do jogo esbateu-se completamente e no seu lugar está agora a vontade de dormir. Nem que sejam apenas dez minutos. Foi uma semana difícil, uma noite agitada, um jogo difícil. Sem olhar, acciona o botão que tranca o carro. Os fechos das portas são accionados numa sequência rápida, como um eco de um ruído surdo, quatro semicolcheias que parecem embalá-lo para adormecer. Um antigo dilema da evolução - a necessidade de dormir e o medo de ser devorado - finalmente resolvido pelo sistema de fecho centralizado. Pelo minúsculo receptor que tem junto ao ouvido esquerdo ouve o murmúrio do escritório em open space, o matraquear suave das teclas dos computadores e, mais perto, uma voz masculina insistir com alguém que não está a ouvi-lo bem: «Ele não nega... mas ele não nega... Sim, eu sei. Sim, é esse o nosso problema. Ele não nega nada.»
De olhos fechados, visualiza as instalações do jornal, as passadeiras de pontas dobradas e com nódoas de café, o sistema de aquecimento feroz onde ferve uma água enferrujada, as longínquas falanges de lâmpadas fluorescentes que iluminam zonas caóticas, as pilhas de papéis onde ninguém toca porque ninguém está interessado em saber o que está escrito neles nem para que servem e as secretárias sobrepovoadas demasiado chegadas umas às outras. Reina ali o espírito de uma sala de aula numa escola de arte. Toda a gente está sob uma pressão demasiado grande para se ocupar dos velhos montes de papéis poeirentos. No hospital acontece o mesmo. Salas cheias de lixo, armários e caixas de arquivo que ninguém se atreve a abrir. Máquinas antigas em invólucros de estanho creme, demasiado pesadas e misteriosas para serem retiradas. Edifícios doentes, com demasiados anos de uso, que só a demolição pode curar. Cidades e estados já impossíveis de consertar. O mundo inteiro a parecer-se com o quarto de Theo. É precisa uma raça de adultos extraterrestres para desfazer a desordem geral e depois mandar toda a gente cedo para a cama. Supunha-se noutros tempos que Deus era um adulto, mas acabou por tomar partido de forma infantil nalgumas disputas. Depois mandou-nos mesmo uma criança, um dos seus - era o que menos falta nos fazia. Um rochedo à deriva já enxameado de órfãos...
- Dr. Perowne?
- O quê? Sim?
- A sua mulher telefona-lhe assim que estiver disponível, mais ou menos daqui a meia hora.
Mais animado, põe o cinto, faz inversão de marcha e dirige-se a Marylebone. Os manifestantes continuam em filas compactas em Gower Street, as Tottenham Court Road já está aberta e inundada de vagas de trânsito que se dirigem para norte. Junta-se a uma delas por breves instantes e depois vira para oeste e outra vez para norte, encontrando-se rapidamente no cruzamento das ruas Goodge e Charlotte, um sítio de que sempre gostou, onde os espaços utilitários e de prazer se condensam, avivando as cores e as casas: espelhos, flores, sabonetes, jornais, fichas, tintas, chaves, civilizadamente entremeadas com restaurantes, bares e hotéis caros. Qual foi o autor americano que disse que se podia ser feliz vivendo em Charlotte Street? Daisy vai ter de lho recordar mais uma vez. Tanto comércio num espaço tão pequeno produz necessariamente montes de sacos de lixo sobre os passeios. Um cão vadio anda à volta dos sacos - os dentes arreganhados para o lixo parecem mais brancos. Antes de voltar outra vez para oeste espreita para o fim da rua, onde se vê a sua praça e, mais ao longe, a sua casa emoldurada por árvores nuas. As portadas do terceiro andar estão fechadas - Theo ainda está a dormir. Henry ainda se lembra da profundidade única do sono no fim da manhã na adolescência e nunca põe em causa o direito do seu filho a essas horas. Não vão ser possíveis por muito tempo.
Atravessa a sombria Great Portland Street - são as fachadas de pedra que fazem que pareça sempre que ali o Sol ainda não nasceu - e em Portland Place passa por um casal da Falun Gong em vigília no passeio em frente da Embaixada da China. A crença num universo miniaturizado que roda incessantemente nove vezes para a frente e nove vezes para trás no baixo ventre do médico está a ameaçar a ordem totalitária. Trata-se obviamente de uma visão não materialista. A resposta da nação são os espancamentos, a tortura, os desaparecimentos e os assassínios, mas os seus seguidores são actualmente em muito maior número que os membros do Partido Comunista Chinês. Quando passa por ali e observa o protesto, Perowne costuma pensar que a China é pura e simplesmente um país com uma população demasiado grande para se manter muito tempo num estado de paranóia. A sua economia está a crescer demasiado depressa e o mundo moderno está demasiado interligado para o partido continuar a manter o controlo. Hoje em dia vêem-se chineses no Harrods, carregados de artigos de luxo. Em breve carregar-se-ão de ideias e nessa altura algo terá de ceder. Entretanto, há também o estado chinês a manchar a reputação do materialismo filosófico.
Depois de deixar para trás a embaixada com a sua sinistra panóplia de parabólicas no telhado, passa pela rede ordenada de ruas de médicos para oeste de Portland Street, com as suas clínicas privadas, as salas de espera com cortinados de chintz, mobiliário a reproduzir modelos antigos, com pernas arqueadas e a Country Life nos cestos de revistas. É a fé, tão poderosa como qualquer religião, que leva as pessoas a Harley Street. Ao longo dos anos, o hospital onde trabalha tem recebido e tratado - obviamente de graça - muitos casos complicados por algum dos médicos idosos, incompetentes e com honorários excessivos que dão consulta naquela rua. Enquanto espera que o semáforo abra, vê três pessoas de burkas pretas saírem de um táxi em Devonshire Place. Comprimem-se no passeio e comparam o número de uma porta com o que está num cartão que uma delas segura. A pessoa do meio, provavelmente a que está doente, ligeiramente dobrada, anda com um passo incerto e apoiada aos braços das suas acompanhantes. As três colunas negras, perfeitamente delineadas contra o estuque e os tijolos esbranquiçados, de cabeças a rodopiar, claramente a discutirem por causa da morada, têm um aspecto burlesco, como crianças a pregarem partidas no Dia das Bruxas. Ou como a representação de Macbeth na escola de Theo, quando as falsas árvores da floresta de Birnam esperavam dos lados do palco para o atravessarem em direcção a Dunsinane. Talvez sejam irmãs a acompanharem a mãe ao que representa o seu último recurso. O semáforo mantém-se teimosamente no vermelho. Perowne acelera ligeiramente e depois põe a alavanca das mudanças em ponto morto. Para que está ele a carregar na embraiagem e a esforçar os seus sensíveis quadrícipes? Não consegue evitar um certo mal-estar; é visceral. Que tristeza ser obrigado a andar pela rua sem qualquer identidade. Pelo menos aquelas mulheres não andam de babuchas. Dão-lhe volta ao estômago. Que diriam os relativistas, os pessimistas alegres da universidade de Daisy? Que é sagrado, tradicional, uma posição contra o vazio do consumismo ocidental? Mas os homens, os maridos - Perowne já atendeu vários sauditas no seu consultório - andam de fato, ou ténis e fato de treino, ou de calças largas e Rolex, e são encantadores e civilizados e profundamente educados segundo ambas as tradições. Seriam capazes de andar vestidos como elas e tropeçar por causa da escuridão em plena luz do meio-dia?
O semáforo que finalmente ficou verde, a mudança de cenário - agora pórticos e outro tipo de salas de espera - e as exigências não muito grandes do trânsito sobre a sua concentração afastam-no daqueles pensamentos incómodos. Conseguiu atalhar um ataque de fúria ainda em desenvolvimento. Que se lixem os códigos islâmicos! Porque há-de ele importar-se com as burkas? Irritar-se com véus! Não, «irritar-se» não é uma palavra suficientemente forte. Os véus e a República da China são responsáveis pelo toque ligeiramente negativo do seu estado de espírito. Aos sábados costuma sentir-se satisfeito e despreocupado, e ei-lo pela segunda vez naquela manhã a esquadrinhar os elementos de um estado de espírito mais sombrio. O que é que está a incomodá-lo? Não é o facto de ter perdido o jogo, nem o acidente com Baxter, nem a noite mal dormida, apesar de todas essas coisas poderem ter tido algum efeito. Talvez seja apenas a perspectiva de uma tarde em que vai ter de percorrer a imensidade dos subúrbios em torno de Perivale. Enquanto houve um jogo de squash entre ele e essa visita sentiu-se protegido. Agora resta-lhe apenas ir comprar o peixe. As reduzidas faculdades da sua mãe já não lhe permitem prever a sua visita, reconhecê-lo quando está com ela ou lembrar-se dele depois de ele sair. Uma visita em vão. Não está à espera dele e não ficaria desapontada se ele não aparecesse. É como ir pôr flores numa campa - um gesto que na verdade tem a ver com o passado. Mas a sua mãe consegue levar uma chávena de chá à boca e, embora não consiga associar um nome ao rosto dele, fica feliz quando o vê sentado ao pé dela, a ouvir o seu arrazoado. Fica contente por ver qualquer pessoa. Odeia ir vê-la, mas sente-se mal se passar muito tempo sem a ver.
Só quando está a estacionar perto de Marylebone High Street é que se lembra de ligar o rádio para ouvir as notícias do meio-dia. Segundo a polícia, estão duzentas e cinquenta mil pessoas no centro de Londres. Alguém da organização insiste que a meio da tarde serão dois milhões. Ambas as fontes estão de acordo quanto ao facto de que continuam a chegar pessoas. Uma manifestante entusiasmada, por acaso uma actriz famosa, ergue a voz acima das palavras de ordem e dos vivas para dizer que nunca na história das Ilhas Britânicas houve um ajuntamento tão grande. Quem ficar na cama naquele sábado de manhã irá arrepender-se de não ter estado ali. O repórter, num assomo de honestidade, lembra aos ouvintes que aquilo é uma referência ao discurso do Dia de São Crispim na obra de Shakespeare Henrique V, antes da batalha de Agincourt. Perowne não percebe o sentido da alusão, e entretanto faz inversão de marcha num espaço apertado entre dois jipes. Duvida que Theo esteja arrependido. E por que razão iria um manifestante a favor da paz querer citar um rei guerreiro? As notícias continuam, e Perowne fica sentado, de motor parado, a olhar fixamente um ponto de luz verde-azulada entre os botões do rádio. Por toda a Europa, por todo o mundo, as pessoas juntam-se para exprimirem a sua preferência pela paz e pela tortura. Era o que diria o professor - Henry tem a sensação de ouvir a sua voz insistente de tenor. A seguir vem a notícia que Henry considera dizer-lhe respeito. Piloto e co-piloto estão detidos para interrogatório em locais diferentes da zona oeste de Londres. A polícia não diz mais nada. Porque será? Vistas através do pára-brisas, a rua próspera de tijolos vermelhos, a geometria das fendas no passeio e as pequenas árvores despidas parecem provisórias, uma imagem projectada numa fina camada de gelo. Um elemento do aeroporto está a admitir que um dos homens é de origem chechena, mas a negar o boato de que teria sido encontrado um Corão no cockpit. Mesmo que fosse verdade, acrescenta, isso não significaria nada. Não é nenhum crime. Tem toda a razão. Henry abre a porta. A autoridade secular, indiferente à babel de inúmeros deuses, garante a liberdade religiosa. Que floresçam as religiões. Está na altura de ir às compras. Apesar das dores nos músculos da coxa, afasta-se rapidamente do carro, que fecha com o comando sem olhar para trás. Um súbito sol de Inverno ilumina o seu caminho por High Street. O maior ajuntamento de pessoas na história das Ilhas Britânicas, a menos de três quilómetros dali, não perturba a alegria de Marylebone, e Perowne sente-se também mais tranquilo ao desviar-se das pessoas que caminham na direcção oposta à sua e dos carrinhos com bebés serenos e aconchegados. Tanta prosperidade, lojas enormes inteiramente dedicadas a queijos, fitas, móveis Shaker, são uma espécie de protecção. Aquele bem-estar comercial é sólido e defender-se-á até à última. Não será o racionalismo a derrotar o fanatismo religioso, mas o comércio e tudo o que ele arrasta consigo - empregos, paz, uma certa dedicação a prazeres realizáveis, a promessa de desejos satisfeitos neste mundo e não no outro. Mais vale fazer compras que rezar.
Dobra a esquina para Paddington Street e debruça-se sobre uma banca de peixe, ao ar livre, exposto sobre uma bancada de mármore branco muito inclinada. Vê de imediato que há ali tudo aquilo de que precisa. Tanta abundância vinda de mares que estão a ficar vazios. Junto à porta aberta, empilhados em duas caixas de madeira pousadas no chão, como refugos industriais a enferrujar, estão as sapateiras e as lagostas, e é visível algum movimento por entre o entrelaçado de patas com um aspecto guerreiro. As pinças estão presas por fúnebres fitas pretas. É uma sorte para o peixeiro e para os seus clientes os animais marinhos não estarem preparados para emitir ondas sonoras e não terem voz, senão daquelas caixas sairia um uivo insuportável. O próprio silêncio que reina entre aquela multidão que se agita mansamente é perturbador. Henry desvia os olhos, concentrando-se na carne branca sem sangue e nas formas prateadas sem vísceras, cujo olhar não é acusador, e nos peixes de profundidade dispostos em hábeis filas sobrepostas de um cor-de-rosa inocente, como páginas de cartão do primeiro livro de um bebé. Naturalmente, o Perowne pescador tem lido a literatura mais recente: na cabeça e no pescoço da truta há muitos nociceptores polimodais iguais aos nossos. Houve tempos em que se pensava comodamente que, para nosso benefício, estávamos rodeados de autómatos comestíveis em terra e no mar. Afinal, sabe-se agora que até os peixes sentem a dor. É esta a complicação cada vez maior da condição moderna, o círculo em expansão da compaixão moral. Não somos apenas irmãos e irmãs de povos distantes, mas também das raposas e dos ratos de laboratório, e agora até dos peixes. Perowne continua a pescá-los e a comê-los e, embora não fosse capaz de meter uma lagosta viva em água a ferver, não tem qualquer problema em pedir uma num restaurante. Como sempre, o segredo, a chave do sucesso e do domínio humano é ser selectivo nas compaixões. Por muitas coisas muito esclarecidas que se digam, é o que está à mão, o visível, que exerce a força que tudo domina. É aquilo que não se vê... É por isso que na amável Marylebone o mundo parece tão profundamente em paz.
Do menu do jantar daquele dia não consta sapateira nem lagosta. Se as amêijoas e os mexilhões que comprou estiverem vivos, pelo menos estão inertes e decentemente fechados. Compra camarões com casca já cozidos e três rabos de peixe-anjo que custam um pouco mais do que o seu primeiro carro. Tem de reconhecer que era um monte de sucata. Pede as cabeças e as espinhas de duas raias para fazer caldo. O peixeiro é um homem educado e atencioso, que trata os clientes como membros de uma estirpe especial da nobreza latifundiária. Embrulha cada um dos peixes em várias páginas de jornal. É o tipo de questão que Henry gostava de apresentar a si próprio quando andava na escola: quais as probabilidades de aquele peixe em particular, daquele cardume em particular, vindo daquela plataforma continental em particular, acabar nas páginas, não, naquela página em particular daquele número do Daily Mirror? Qualquer coisa entre um e o infinito. O mesmo se aplica aos grãos de areia de uma praia e à forma como estão dispostos. O ordenamento aleatório do mundo, as probabilidades inimagináveis de uma determinada condição, são assuntos que continuam a agradar-lhe. Mesmo em criança, e sobretudo depois de Aberfan, nunca acreditou no destino nem na Providência, nem que houvesse alguém no céu a determinar como seria o futuro. Em vez disso, sempre acreditou que em cada instante existiam biliões de biliões de futuros possíveis; a selecção do acaso e das leis da física são, para ele, uma liberdade das maquinações de um deus sombrio.
O saco de plástico branco onde vai o jantar para a família é pesado, está denso com o peixe e o papel encharcado, e as asas magoam-lhe as palmas das mãos no caminho de regresso ao carro. A dor no peito impede-o de mudar o saco para a mão esquerda. Vindo do ambiente frio e húmido e dos odores a plantas marinhas da peixaria, tem a sensação de sentir no ar uma certa doçura, um cheiro ao feno quente e a secar nos campos em Agosto. O cheiro - certamente uma ilusão motivada pelo contraste - permanece, mesmo com o trânsito e o frio de Fevereiro. Tantos Verões passados em família no Ariège, um recanto no Sudoeste de França, exactamente no sítio onde começam as primeiras elevações do solo antes dos Pirenéus. O castelo de St. Felix, de uma pedra quente, ligeiramente rosada, com duas torres redondas e vestígios de um fosso, foi o local escolhido por John Grammaticus para se refugiar após a morte da mulher e para a chorar através das famosas canções de amor, ao mesmo tempo tristes e doces, reunidas num volume intitulado Sem Exéquias. Para Henry Perowne não eram famosas, pois continuou a não ler poesia em adulto, mesmo depois de ter arranjado um sogro poeta. Claro que começou a fazê-lo assim que descobriu que era ele próprio pai de uma poeta. Mas para isso teve de fazer um esforço desmedido. Por vezes basta um verso para lhe provocar uma opressão por detrás dos olhos. Os romances e os filmes, inquietantemente modernos, impelem-nos para a frente ou para trás através dos tempos, dias, anos ou até gerações. Mas, para fazer as suas observações e considerações, a poesia equilibra-se na fugacidade do momento. Abrandar, parar completamente para ler e compreender um poema, é como tentar adquirir uma competência antiga, como caiar muros ou apanhar trutas à mão.
Quando Grammaticus acabou o luto, há mais de vinte anos, iniciou uma série de casos amorosos que ainda hoje continuam. O padrão está bem definido. Contrata uma mulher mais nova, normalmente inglesa, mas às vezes francesa, para secretária e governanta e, pouco a pouco, transforma-a em sua mulher. Ao fim de dois a três anos ela vai-se embora, por não conseguir aguentar mais, e será a sua substituta a receber a família Perowne em finais de Julho. Rosalind é sempre contundente, prefere sempre a anterior à seguinte, mas depois, com o tempo, acaba sempre por criar uma certa amizade com elas. Afinal não pode dizer-se que a culpa seja da recém-chegada. Os seus filhos, totalmente desprovidos da capacidade de fazerem juízos de valor, mesmo em adolescentes, são imediatamente amáveis para elas. Perowne, obrigado por constituição a amar uma única mulher em toda a sua vida, não diz nada, mas fica impressionado, sobretudo à medida que o sogro se vai aproximando dos oitenta anos. Talvez esteja finalmente a abrandar, pois Teresa, uma alegre bibliotecária de Brighton, de quarenta anos, já está com ele há quase quatro anos.
Os jantares ao ar livre no interminável crepúsculo, os perfumados rolos de feno nas encostas íngremes que rodeiam os jardins, o cheiro mais ténue do cloro da piscina na pele dos miúdos e o vinho tinto tépido de Cahors ou Cabrières - deviam ser o Paraíso. E são quase, e é por isso que continuam a ir lá. Mas por vezes John é um homem infantil, dominador, o tipo de artista que se permite percorrer todo um leque de estados de espírito. No espaço de uma garrafa de vinho tinto consegue migrar de umas quantas anedotas rápidas para um súbito ataque de raiva, retirando-se depois muito zangado para o seu escritório - e é ver a sua figura alta, de costas arqueadas, atravessar o relvado às escuras em direcção à casa iluminada, seguido por Betty ou Jane ou Francine, e agora Teresa, a tentarem acalmá-lo. Nunca conseguiu aprender completamente a arte de conversar; tem tendência para ver em qualquer opinião dissonante, por branda que seja, uma espécie de afronta, um desafio para um combate mortal. Os anos e a bebida não o têm suavizado. E, naturalmente, com os anos escreve menos, e isso torna-o mais infeliz. O seu exílio em França tem constituído um longo período de tédio, obscurecido ao longo de duas décadas por algumas desconsiderações por parte do seu país natal. Houve um primeiro período mau de quatro anos, quando não quiseram reimprimir os seus Collected Poems e ele teve de arranjar outra editora. John também ficou ofendido quando foi Spencer e não ele a receber o título de cavaleiro, quando foi Rainer e não ele a ser editado pela Faber, quando perdeu a titularidade da cadeira de Poesia em Oxford para Fenton, quando Hughes e mais tarde Motion lhe foram preferidos para o lugar de Poeta Laureado e, acima de tudo, quando foi Heaney a receber o Nobel. Estes nomes não significam nada para Perowne, que compreende, no entanto, que os poetas eminentes, tal como os grandes consultores, vivem num mundo vigilante e invejoso, em que a reputação é alvo de uma luta renhida e um homem pode ficar mal pela ansiedade de atingir um certo estatuto. Os poetas - este poeta, pelo menos - é tão prosaico como qualquer outra pessoa.
Durante alguns Verões, quando os filhos ainda eram pequenos, os Perowne iam para outros sítios, mas nunca encontraram nenhum tão bonito como St. Felix. Era ali que Rosalind passava as férias de Verão em criança. O castelo era enorme, e era fácil estar longe da vista de John, que gostava de passar várias horas por dia sozinho. Numa semana raramente havia mais de dois ou três momentos maus e, com o tempo, foram-se tornando cada vez menos importantes. Quando o padrão da vida amorosa de John começou a definir-se, Rosalind teve as suas razões, algo delicadas, para se manter em contacto com o pai. O castelo pertencia aos seus avós maternos, e era o grande amor da vida da sua mãe. Fora ela que o modernizara e restaurara. A sua preocupação é que a idade e a doença levem John a casar com uma das suas secretárias, o que poderia fazer que o castelo saísse da família e fosse parar às mãos de uma arrivista qualquer. O direito sucessório francês poderia impedi-lo, mas existia um documento antigo que isentara St. Felix, determinando que seria o direito inglês a prevalecer. Com os seus modos irritáveis, John garantiu à filha que nunca voltaria a casar e que o castelo ficaria para ela, mas recusara-se a atestá-lo por escrito.
É provável que esse motivo subjacente de ansiedade se resolva. Um outro motivo mais forte para manterem as suas visitas ao castelo no Verão era a habitual insistência de Daisy e Theo - noutros tempos, antes de John e Daisy se terem fartado. Os miúdos adoravam o avô e achavam que os seus modos meio tontos eram uma prova da sua individualidade, da sua grandeza - uma visão que ele próprio partilhava. Mimava-os, nunca levantava a voz contra eles e escondia deles os seus piores acessos de raiva. Considerou-se desde o princípio - e o tempo dar-lhe-ia razão - uma figura importante no seu desenvolvimento intelectual. Quando se tornou claro que Theo nunca iria interessar-se mais por livros do que a boa educação lhe exigia, John encorajou-o a dedicar-se ao piano e ensinou-o a tocar um boogie simples em dó. Depois comprou-lhe uma guitarra acústica e desencantou na cave caixas e caixas de cartão cheias de discos de blues - tanto discos velhinhos de 78 rotações como LP - e gravou-os todos em cassetes que enviava regularmente para Londres. Quando Theo fez catorze anos, o avô levou-o a Toulouse para assistir a uma das últimas apresentações ao vivo de John Lee Hooker. Numa noite de Verão, depois do jantar, Grammaticus e Theo cantaram St. James' Infirmary sob um céu inundado de estrelas, o velhote com a cabeça inclinada para trás e a cantar com uma voz rouca e um sotaque americano, que fizeram Rosalind chorar. Theo, na altura com apenas catorze anos, improvisou um solo doce e melancólico. Perowne, sentado na borda da piscina, com os pés dentro de água e o copo de vinho na mão, também ficou comovido e sentiu-se culpado por não ter levado a sério o talento do filho.
No Outono desse ano, Theo começou a ter lições na zona leste de Londres, com várias figuras já de certa idade do mundo dos blues de Inglaterra. Segundo Theo, a mais impressionante de todas foi Jack Bruce, porque tinha aprendido música, tocava vários instrumentos, revolucionara a arte de tocar baixo, sabia toda a teoria e gravara com toda a gente durante o período heróico dos blues britânicos, no princípio dos anos sessenta, na longínqua era dos Blues Incorporated. Também tinha mais paciência com ele do que os outros, dizia Theo, e era muito atencioso. Perowne ficou surpreendido com o facto de uma figura tão importante como Bruce se dar ao trabalho de perder tempo a ensinar um miúdo. Theo desarmou-o, dizendo que não via nada de estranho nisso.
Por intermédio de Bruce, Theo conheceu algumas das figuras lendárias. Participou numa aula dada por Clapton. Tiveram um encontro com Long John Baldry, vindo do Canadá. Theo gostou de o ouvir falar de Cyril Davies, Alexis Korner, da Graham Bond Organisation e do primeiro concerto dos Cream. Por mero acaso, Theo tocou durante vários minutos numa jam session com Ronnie Wood e conheceu o seu irmão mais velho, Art. Passado um ano, Art convidou Theo para participar numa jam session no Eel Pie Club, no pub Cabbage Patch, em Twickenham. Bastaram-lhe menos de cinco anos para ficar por dentro de toda a tradição. Agora, sempre que está no castelo, toca para o avô e mostra-lhe as suas últimas habilidades. Parece precisar da aprovação de John, e o velhote faz-lhe a vontade. Perowne tem de admitir que o seu sogro fez despertar qualquer coisa no filho que ele, Perowne, talvez nunca tivesse descoberto. É verdade que numas férias a fazer bodyboard em Pembrokeshire, Henry lhe mostrou três acordes numa viola que pertencia a alguém, já não se lembra a quem, e lhe explicou que os blues eram tocados em mi. Foi apenas mais uma coisa para além de jogarem ao disco, de fazerem esqui na relva, de andarem de bicicleta, de jogarem paintball, de fazerem ressaltar pedras e de andarem de patins em linha.
Nessa altura esforçou-se muito para que os seus filhos se divertissem. Até partiu um braço a tentar andar de patins. Mas nunca imaginaria que esses três acordes iam ser a base da vida profissional do seu filho.
John Grammaticus também teve um papel preponderante na vida de Daisy, pelo menos até ao momento em que houve qualquer coisa que correu mal entre ambos. Quando ela tinha treze anos, mais ou menos na altura em que andava a ensinar ao irmão o boogie em dó, perguntou-lhe de que livros gostava. Ouviu a resposta dela e declarou peremptoriamente que ela andava a esforçar-se pouco - tinha um desprezo profundo pela ficção para «jovens adultos» que ela andava a ler. Convenceu-a a tentar ler Jane Eyre, leu-lhe os primeiros capítulos em voz alta e descreveu-lhe os prazeres que ia encontrar. Ela esforçou-se, mas apenas para lhe agradar. Não estava familiarizada com aquela linguagem, as frases eram muito longas, as imagens não eram claras. Perowne tentou ler o livro e o resultado foi semelhante. Mas John insistiu com a neta para que continuasse e finalmente, ao fim de cem páginas, acabou por se apaixonar por Jane e custava-lhe largar o livro à hora das refeições. Uma tarde, quando a família foi dar um passeio pelo campo, deixaram-na ficar a ler as quarenta e uma páginas que lhe faltavam. Quando voltaram foram dar com ela debaixo de uma árvore ao pé do pombal, a chorar, não por causa da história, mas porque tinha chegado ao fim e despertado de um sonho e enfrentado a realidade de que tudo aquilo era apenas uma criação de uma mulher que jamais conheceria. Disse que estava a chorar de admiração, de alegria por ser possível criar coisas daquelas. Grammaticus queria saber que coisas. Oh, avô, quando as crianças do orfanato morrem e, no entanto, o tempo está tão maravilhoso, e aquela parte em que Rochester finge ser cigano, e quando Jane vê Bertha pela primeira vez e tem a sensação de estar perante um animal selvagem...
A seguir deu-lhe A Metamorfose, de Kafka, que, segundo ele, era o livro ideal para uma rapariga de treze anos. Devorou aquele conto de fadas doméstico e pediu aos pais que também o lessem. Apareceu uma manhã, muito cedo, no quarto deles no castelo e sentou-se na cama a lamentar-se: coitado do Gregor Samsa, a família dele é tão horrorosa para ele. Que sorte ele ter uma irmã que lhe limpa o quarto e lhe arranja as comidas de que gosta. Rosalind leu o livro de um trago, como se fosse um documento legal. Perowne, por natureza relutante em relação a uma história de uma transformação impossível, admitiu que no fim se sentiu curioso - não conseguiu um termo mais elevado para exprimir a sua admiração. Agradou-lhe a crueldade inimaginável dessa irmã na última página, ao seguir no eléctrico com os pais até à última paragem e levantar-se para distender os seus membros de jovem, preparada para iniciar uma vida sensual. Era uma transformação em que conseguia acreditar. Foi o primeiro livro que Daisy lhe recomendou e marcou o início da sua educação literária pela filha. Apesar de, ao longo dos anos, ter sido sempre bastante diligente e ter tentado ler quase tudo o que ela lhe sugere, sabe que ela o acha um materialista rude e sem remissão. Acha que lhe falta imaginação. Talvez seja verdade, mas Daisy ainda não desistiu dele. Os livros estão empilhados em cima da mesa de cabeceira e à noite, quando chegar, trar-lhe-á mais. Nem sequer acabou a biografia de Darwin e ainda não começou a ler Conrad.
A partir daquele Verão de Brontè e Kafka, Grammaticus tomou a seu cargo a orientação das leituras de Daisy. Tinha ideias firmes e antiquadas quanto aos livros fundamentais, sabendo no entanto que nem todos dariam muito prazer a ler. Acreditava na aprendizagem de cor e estava disposto a pagar para que assim fosse. Shakespeare, Milton e a Bíblia do rei Jaime - cinco libras por cada vinte versos memorizados dos passos que assinalava.
Aqueles três livros eram a fonte de toda a boa poesia e prosa inglesa; ensinou-a a enrolar as sílabas na língua e a sentir a sua força rítmica. No Verão dos seus dezasseis anos, Daisy ganhou aquilo que para uma adolescente era uma fortuna no castelo, a repetir, até a cantar, versos de Paradise Lost, do Génesis e de várias meditações de Hamlet. Recitou Browning, Clough, Chesterton e Masefield. Numa das melhores semanas ganhou quarenta e cinco libras. Ainda agora, passados seis anos, com vinte e três anos de idade, jura que consegue declamar sem parar durante mais de duas horas. Aos dezoito anos, quando acabou o liceu, já tinha lido uma fracção considerável daquilo a que o avô chamava as coisas óbvias. Nem quis ouvir falar da possibilidade de ela ir estudar Literatura Inglesa para outro sítio que não o seu colégio em Oxford. Apesar de Henry e Rosalind lhe terem pedido que não o fizesse, provavelmente recomendou-a. Desvalorizou o assunto, dizendo-lhes que hoje em dia o sistema era incorruptível e que, mesmo que quisesse, não poderia fazer nada para a ajudar. Pelo que conheciam do que se passava nas suas profissões, sabiam que aquilo não poderia ser estritamente verdade. Ficaram de consciência mais tranquila quando viram uma nota manuscrita dirigida ao director do colégio de Daisy por um tutor que afirmava que a entrevista dela fora espantosa, nomeadamente por ter sublinhado todas as suas opiniões com uma citação. Ao fim de um ano já tinha alcançado demasiado sucesso para o gosto do avô. Chegou a St. Felix dois dias depois do resto da família, levando consigo o seu poema que ganhara o Prémio Newdigate desse ano. Henry e Rosalind nunca tinham ouvido falar do Newdigate, mas ficaram imediatamente satisfeitos. No entanto, o seu significado foi maior, talvez grande de mais, para o avô de Daisy, que também o ganhara na década de cinquenta. Levou as folhas para o escritório - os pais de Daisy só puderam vê-las mais tarde. O poema era uma longa descrição das ternas meditações de uma jovem após o fim de mais uma relação amorosa. Mais uma vez tirou os lençóis da cama e levou-os para a lavandaria, onde fica a vê-los pelo «monóculo enevoado» da máquina de lavar, onde «as nossas manchas revoluteiam para serem expurgadas». Aquelas relações sucedem-se, como as estações, demasiado depressa, «passando do verde ao castanho» com «os frutos caídos das árvores a apodrecerem docemente até ao esquecimento». As manchas não são pecados, mas «marcas de água de êxtase» ou, mais adiante, «palimpsestos leitosos», e, por isso, não são fáceis de retirar. Vagamente religioso, com um erotismo melífluo, o poema sugeriu a um Perowne perturbado que o primeiro ano da sua filha na universidade tivera mais gente do que ele alguma vez supusera. Não apenas um namorado, ou um amante, mas toda uma sucessão deles, até atingir aquela serenidade. Pode ter sido isso que voltou Grammaticus contra o poema - a sua protegida despertara e encontrara outros homens. Ou pode ter sido mais um deplorável ataque de ansiedade pelo seu estatuto - ao tomar a seu cargo a educação literária de Daisy não pretendera produzir mais um poeta seu rival. Afinal, Fenton e Motion também ganharam o Newdigate.
Teresa fez um jantar simples: uma salada niçoise com atum fresco que comprou na praça de Pamiers. A mesa foi posta no jardim, perto da cozinha, na extremidade de um vasto relvado. Estava uma noite excepcionalmente bela, com as árvores e os arbustos a fazerem uma sombra avermelhada que avançava sobre a relva e os grilos a ocuparem o lugar onde durante a tarde tinham estado as cigarras. Grammaticus foi o último a aparecer, e para Perowne, pela avaliação dos movimentos do sogro quando este se baixou para se sentar na cadeira ao lado da de Daisy, ele já devia ter despejado uma garrafa de vinho ou mais sozinho. Essa suspeita foi confirmada quando ele pousou a mão sobre o pulso da neta e, com aquela assustadora franqueza que os bêbedos confundem com intimidade, lhe disse que o poema era imprudente e não do género dos que normalmente recebiam o Newdigate. Disse-lhe que não era bom, como se ela tivesse obrigação de o saber e de concordar. Como um psiquiatra poderia dizer, estava desinibido.
No seu último ano de liceu, apenas com dezoito anos, a melhor aluna do seu ano, Daisy já formara a sua maneira de ser precisa e contida. Era uma jovem magra, elegante, com um rosto pequeno de menina endiabrada, cabelo preto curto e costas direitas. A sua calma parece impermeável. Nessa noite, ao jantar, só os pais e o irmão sabiam como essa aparência controlada era frágil. Mas ela manteve a calma ao retirar rapidamente a mão e olhar para o avô à espera que ele dissesse mais alguma coisa. Ele bebeu uma boa parte do vinho que estava no seu copo, como se fosse um copo de cerveja, e avançou contra o silêncio dela. Disse-lhe que as rimas eram soltas e desajeitadas e as estrofes irregulares. Henry olhou para Rosalind à espera que ela interviesse. Se não o fizesse, teria de ser ele a fazê-lo, e a questão assumiria uma certa importância. Para sua vergonha, não tinha a certeza de saber o que era uma estrofe e teve de ir ver ao dicionário ainda nessa noite. Rosalind aguentou-se - interromper a diatribe do pai demasiado cedo podia provocar uma explosão. Lidar com ele era uma arte delicada. Teresa estava a sofrer do seu lado da mesa. No seu tempo, e em muitas ocasiões nos anos anteriores à sua chegada, já houvera cenas daquelas, mas nunca nenhuma que envolvesse os netos. Sabia que aquilo não podia acabar bem. Theo assentou o queixo na palma da mão e ficou a olhar para o prato.
Encorajado pelo silêncio da neta, John continuou, entusiasmado com a sua própria autoridade, mas, à sua maneira, estupidamente afectuoso. Estava a confundir a jovem sentada à sua frente com a menina de dezasseis anos que conduzira por entre os maiores expoentes da poesia isabelina.
Se alguma vez o soubera, já esquecera o que um bom ano na universidade podia fazer. Só conseguia imaginar que ela sentia o mesmo que ele e estava a dizer-lhe o óbvio; que o poema era demasiado longo, que tentava chocar em demasia, que era uma alegoria que ambos sabiam ser demasiado rebuscada. Fez uma pausa para beber, outra vez muito, e ela continuou sem dizer nada.
Depois disse-lhe que o poema não era original e, finalmente, houve uma reacção. Ela levantou a sua encantadora cabeça e ergueu uma sobrancelha. Não era original? Perowne, vendo um indício no tremor do delicado queixo, achou que aquela calma não ia manter-se. Por fim Rosalind falou, mas o pai fez prevalecer a sua voz. Sim, uma poeta pouco conhecida mas dotada, Pat Jordan, uma mulher da escola de Liverpool, escrevera sobre a mesma ideia nos anos sessenta - o fim de uma relação, os lençóis a rodopiarem na máquina de lavar sob o olhar da poeta pensativa. Seria possível que Grammaticus soubesse quão idiota o seu comportamento estava a ser, mas não conseguisse parar? Nos seus olhos frágeis havia a expressão retraída de um cão, como se estivesse a assustar-se a si próprio e implorasse que alguém o fizesse parar. A sua voz falhava com o esforço de ser afável, mas continuava a falar sem parar, tornando-se cada vez mais ridículo. O silêncio que reinava em torno da mesa e que lhe permitira continuar era agora o seu castigo, a sua aflição. Thèo olhava para ele espantado, a abanar a cabeça. Obviamente, dizia John, não estava a acusar Daisy de plágio. Ela podia ter lido o poema e ter-se esquecido dele, ou simplesmente tê-lo reinventado. Afinal nem era uma ideia assim tão excepcional ou fora do comum, mas de qualquer forma...
Por fim calou-se, quando já não conseguia piorar mais as coisas. Perowne ficou satisfeito por ver que a sua filha não se deixara subjugar. Estava furiosa. Conseguia ver o coração dela a bater pelo latejar do pescoço.
Mas não iria aliviar o avô com qualquer tipo de explosão. De repente, sem conseguir suportar mais o silêncio, ele recomeçou, falando precipitadamente, a tentar abrandar a sua opinião, mas sem de facto a alterar. Daisy interrompeu-o e disse que achava que deviam mudar de assunto, o que levou Grammaticus a murmurar simplesmente «merda!», a levantar-se e a ir para dentro de casa. Ficaram a vê-lo afastar-se - era uma visão frequente, mas também perturbadora, pois era a primeira vez naquele Verão.
Daisy ficou lá em casa mais três dias, o suficiente para o avô pensar em formas de reatar a relação com ela. Mas no dia seguinte estava muito activo e alegre a tratar dos seus assuntos e parecia ter-se esquecido do que acontecera. Ou então estava simplesmente a fingir - como muitos alcoólicos, gostava de pensar que cada novo dia apagava o anterior. Quando Daisy partiu para Barcelona - algo que estava planeado há muito tempo -, foi despedir-se dele com dois beijos na cara e ele agarrou-lhe o braço e conseguiu com isso convencer-se de que houvera uma reconciliação. Quando Rosalind e depois Henry tentaram convencê-lo de que ainda tinha de resolver o assunto com Daisy, disse-lhes que estavam a inventar problemas. Depois disso deve ter ficado intrigado com o facto de ela não aparecer dois Verões seguidos em St. Felix. Teve bons motivos: partiu em viagem com amigos para a China e o Brasil. Devia ter-lhe escrito quando ela acabou o curso, mas nessa altura estava amuado em relação ao assunto. Assim, foi um passo arriscado de Rosalind mandar-lhe as provas do livro de poemas de Daisy. Não seria inevitável que ele não gostasse deles? Sobretudo porque o editor era o mesmo que se recusara a reeditar os seus Collected Poems.
Se o entusiasmo de John por My Saucy Bark era táctico, conseguiu escondê-lo de forma brilhante. A longa carta que lhe escreveu começava com o reconhecimento de que fora «terrivelmente rústico» em relação ao poema da lavandaria.
Não tinha sido incluído no livro, e Henry perguntou a si mesmo, embora nunca em voz alta, se ela não teria achado que o avô tinha razão. Descobrira um tom coloquial, dizia-lhe ele na carta, que, apesar disso, era muito rico em significado e associações. De vez em quando, essa voz vulgar, do quotidiano, era interrompida por versos de grande intensidade emocional e de uma «transcendência secular». Isso fazia que achasse que o espírito do seu amado Larkin estava sempre presente nos poemas dela, mas «revigorado pela sensualidade de uma jovem». Com a sua letra quase ilegível, elogiou a «força intelectual», a «coragem de um pensamento difícil e independente», que presidiam à construção dos seus poemas. Adorava a «desleixada perspicácia» dos seus Six Sbort Songs. Dizia que «rira como um idiota» com The Ballad of tbe Brain on my Shoe, um poema que nascera de uma visita de Daisy ao bloco operatório para ver o pai a trabalhar. Claro que é aquele de que Henry menos gosta. A filha assistiu a uma operação a um aneurisma. Não se perdeu matéria cinzenta nem branca. Henry acha que percebeu o essencial do poema, mas que há nele - segundo supõe - uma desonestidade perdoável. Daisy mandou um postal afectuoso ao avô, dizendo-lhe que tinha muitas saudades dele e que tinha uma grande dívida para com ele. Disse-lhe que as observações dele a tinham deixado muito entusiasmada, que estava sempre a lê-las e que até tinha ficado tonta com os elogios dele.
Agora o sogro e a filha vinham a caminho de Toulouse e de Paris. Uma estação de televisão queria fazer um programa sobre ele e ia pô-lo em grande estilo no Claridge's. O jantar daquela noite selaria a reconciliação. É essa a ideia, mas Perowne, de saco de peixe na mão, a caminhar por entre as pessoas que enchem High Street, já partilhou muitas refeições com o sogro para poder sentir-se optimista; além disso, a questão prolongou-se pelos últimos três anos. Hoje em dia, Grammaticus começa os seus
serões ou acaba as suas tardes como fazia naquela altura, com uns bons copos de gim antes do vinho - um hábito de que conseguiu livrar-se por algum tempo, por volta dos sessenta anos. Um outro desenvolvimento são os copos de uísque a fechar o dia, a anteceder a cerveja «de limpeza» antes de ir para a cama. Se aparecer à porta alegre ou excitado, sentirá aquela compulsão de mandar em casa da filha, que o faz beber ainda mais depressa. Ficar embriagado é embarcar numa viagem que normalmente o leva aos tempos idos - torna-se boa companhia, expansivo, maldoso e divertido, o famoso poeta de antigamente, quase tão feliz a ouvir como a falar. Contudo, quando chega ao destino, depois de devidamente enraizado nesse planalto sem sol, de estar completamente bêbedo, são as meditações mais desagradáveis, a agressividade, a paranóia e a pena dele mesmo que se apoderam dele. Actualmente, há sempre a expectativa de que uma noite com John corra mal, a menos que haja por perto alguém preparado para fazer humor, para elogiar e para passar horas a ouvir de rosto impassível. Nunca há.
Perowne chega ao carro e arruma o saco, com o seu cheiro forte, na mala, por entre as botas de caminhada e as mochilas da família e as bolas de ténis do Verão anterior. O pensamento pouco profissional que lhe ocorre é que a solução mais simpática para toda a gente, incluindo o velhote, seria dar-lhe um tranquilizante enquanto ele ainda está na fase alegre, uma benzodiazepina de acção rápida dissolvida num vinho tinto forte, como o Rioja, e, quando começasse a bocejar levá-lo pelas escadas acima para o quarto ou para o táxi - ou seja, meter o famoso poeta na cama antes da meia-noite, cansado e feliz e sem ter magoado ninguém.
Depois de andar algumas centenas de metros em Marylebone no meio de um trânsito lento, repara pelo espelho retrovisor que dois carros atrás do dele vem um BMW vermelho.
Só consegue ver um canto do lado de fora e por isso não sabe se lhe falta o espelho lateral. Uma carrinha branca interpõe-se entre eles num cruzamento e deixa quase de conseguir ver o carro vermelho. Não é impossível que seja Baxter, mas não se sente particularmente ansioso em relação à hipótese de tornar a vê-lo. Aliás, até nem se importava de falar com ele. O caso dele é interessante, e a oferta de ajuda foi sincera. O que o preocupa mais é o facto de o trânsito não andar naquela manhã de sábado - há uma obstrução mais à frente. Quando volta a olhar, o carro vermelho já desapareceu. Depois esquece o assunto; a sua atenção fica presa por uma loja de televisões à sua esquerda.
Na montra estão dispostas em ângulo imagens idênticas de vários tipos de ecrãs - raios catódicos, plasma, portáteis, home cinema. Todos eles mostram uma imagem do primeiro-ministro a dar uma entrevista em estúdio. O close-up do seu rosto está a transformar-se lentamente num close-up da boca, até que os seus lábios enchem metade do ecrã. No passado deu a entender que, se soubéssemos tanto como ele, também quereríamos avançar para a guerra. Talvez com aquele zoom lento, o realizador esteja conscientemente a responder a uma pergunta que toda a gente que estiver a ver quererá fazer: estará este político a dizer a verdade? Mas será que alguém consegue distinguir os sinais de um homem honesto? Tem havido bons trabalhos sobre esta questão. Perowne leu Paul Ekman. No sorriso de uma pessoa que sabe que está a mentir há certos grupos de músculos do rosto que não são activados. Só ganham vida com a expressão de um sentimento verdadeiro. O sorriso de um mentiroso é defeituoso, insuficiente. Mas será possível ver que esses músculos estão inertes quando há tantas variações nos rostos, papos de gordura, concavidades estranhas, diferenças de estrutura óssea? É particularmente difícil quando a primeira e melhor medida inconsciente de um mentiroso compulsivo é convencer-se de que é sincero. E, quando é sincero, toda a fraude desaparece.
Apesar de tantas dificuldades, das medidas preventivas instintivas, continuamos a observar atentamente, a tentar ler os rostos, a tentar avaliar as intenções. Será amigo ou inimigo? É uma preocupação antiga. Mesmo que ao longo das gerações estejamos certos apenas um pouco mais de metade das vezes, continua a valer a pena tentar. Hoje mais do que nunca, à beira da guerra, quando o país ainda imagina que pode voltar atrás antes que seja tarde de mais. Será que aquele homem acredita sinceramente que estaremos todos mais seguros se avançarmos para a guerra? Será verdade que Saddam possui armas com um potencial terrível? O primeiro-ministro pode simplesmente estar a ser sincero ou estar errado. Alguns dos seus mais ferozes opositores não duvidam da sua boa fé. Pode estar à beira de um monstruoso erro de cálculo. Ou talvez resulte - talvez o ditador seja vencido sem centenas ou milhares de mortes e, ao fim de um ou dois anos, haja finalmente uma democracia, secular ou islâmica, aninhada entre as duras tiranias do Médio Oriente. Preso no trânsito ao lado de uma multiplicidade de rostos, Henry sente a sua própria ambivalência sob a forma de uma vertigem, de uma indecisão estonteante. Ao escolher a neurocirurgia, escolheu uma profissão segura e simples.
Conhece doentes que nem conseguem reconhecer, quanto mais interpretar, os rostos dos seus familiares e amigos mais chegados. Na maior parte dos casos o giro médio direito está comprometido, normalmente na sequência de um AVC. Não há nada que um neurocirurgião possa fazer em relação a isso. Deve ter sido um momento de reconhecimento deficiente de um rosto - prosopagnosia transitória - que ocorreu no único encontro que teve com Tony Blair. Foi em Maio de 2000, uma altura já coberta por uma patine, um falso brilho de inocência. Antes das preocupações actuais, havia um projecto público em larga medida considerado um êxito.
Aparentemente ninguém o negava, as coisas estavam a correr bem. A transformação fora ousada e brilhante. Na festa de inauguração da Tate Modern estavam presentes quatro mil convidados - celebridades, políticos, os mais ricos e os melhores - centenas de jovens a distribuir champanhe e canapés e uma euforia geral não corrompida pelo cinismo, uma coisa rara nesse tipo de acontecimentos. Henry estava lá na qualidade de membro do Royal College of Surgeons. Rosalind fora convidada através do jornal. Theo e Daisy também foram e desapareceram no meio da multidão assim que chegaram. Os pais só voltaram a vê-los na manhã seguinte. Os convidados juntaram-se no imenso espaço industrial das velhas turbinas, onde o barulho de milhares de vozes excitadas parecia fazer pairar no ar uma gigantesca aranha sob as traves de ferro. Ao fim de uma hora, Henry e Rosalind separaram-se dos amigos e, de copo na mão, vaguearam pelas galerias quase desertas a visitar as exposições.
Sentiam-se tão bem que até as lúgubres ortodoxias da arte conceptual lhes pareceram divertidas, como demonstrações honestas dos trabalhos dos alunos num dia de festa na escola. Perowne gostou de Exploding Shed, de Cornelia Parker - uma construção humorística, uma ideia brilhante a explodir de uma mente. Entraram numa sala com obras de Rothkos e durante alguns minutos sentiram-se agradavelmente calmos entre as gigantescas pedras de um vermelho e laranja sombrios. Depois passaram por uma enorme portada para a galeria contígua, onde havia algo que à primeira vista lhes pareceu outra instalação. Uma parte, uma pequena pilha de tijolos, era de facto uma obra em exposição. Atrás dela, ao fundo da enorme sala, estava o primeiro-ministro e, ao seu lado, o director da galeria. A uns seis metros de distância, junto aos tijolos, isolada por um cordão de veludo, estava a imprensa - trinta ou mais fotógrafos e jornalistas - e algumas pessoas que pareciam pertencer aos serviços da galeria e de Downing Street. Os Perowne tinham entrado na sala num momento em que reinava um silêncio estranho. Blair e o director estavam a sorrir e a posar para as câmaras, em fotografias que incluiriam também os famosos tijolos. Os flashes faiscavam ao acaso, mas nenhum dos fotógrafos estava a chamá-los como é costume. A calma da cena parecia uma extensão da exposição de Rothko na galeria ao lado.
A certa altura, o director, talvez à procura de uma desculpa para terminar a sessão, levantou a mão para cumprimentar Rosalind. Conheciam-se por uma questão legal qualquer, que terminara de forma amigável. O director guiou Blair em torno dos tijolos e atravessou a galeria em direcção aos Perowne. Atrás deles vinha o séquito: os fotógrafos com as máquinas preparadas, os jornalistas com os livros de notas para o caso de finalmente acontecer qualquer coisa de interessante. Sem poderem fazer nada, os Perowne viram aproximar-se toda aquela gente. Num contacto súbito, foram apresentados ao primeiro-ministro, que cumprimentou primeiro Rosalind e depois Henry. O seu aperto de mão foi firme e viril e, para surpresa de Perowne, Blair olhou para ele com consideração e interesse. O seu olhar era inteligente, intenso e inesperadamente jovem. Ainda estava muita coisa para acontecer.
- Admiro muito o seu trabalho - disse a Perowne, que lhe agradeceu automaticamente. Mas ficou impressionado. Supôs que talvez Blair, com a sua boa memória e a sua fama de ter uma extraordinária capacidade para absorver os pormenores dos relatórios dos seus ministros, tivesse ouvido falar do excelente desempenho do hospital no mês anterior, em que todos os objectivos tinham sido atingidos, ou até da menção especial aos excepcionais resultados do departamento de neurocirurgia. O número de intervenções tinha aumentado vinte e três por cento no último ano.
Mais tarde, Henry tomou consciência de que a sua suposição era completamente absurda. O primeiro-ministro, ainda a agarrar a sua mão, acrescentara:
- Aliás, temos dois quadros seus em Downing Street. A Cherie e eu adoramo-los.
- Não, não - disse Perowne.
- Sim, sim - insistiu o primeiro-ministro, abanando-lhe a mão. Não estava com disposição para artistas modestos.
- Não, acho que...
- A sério. Estão na sala de jantar.
- Está enganado - disse Perowne, e essa palavra fez passar pela expressão do primeiro-ministro um brevíssimo instante de súbito alarme, uma dúvida passageira. Mais ninguém viu a sua expressão congelar e os seus olhos abrirem-se muito ligeiramente. Acabava de aparecer uma fractura da grossura de um cabelo na segurança do poder. Depois continuou como antes, sem dúvida depois de fazer um cálculo rápido de que, com tanta gente à volta deles a tentar ouvir, não podia voltar atrás. Se o fizesse, seria ridicularizado pela imprensa no dia seguinte.
- Seja como for, são verdadeiramente maravilhosos. Parabéns.
Um dos assessores, uma mulher com um fato de calças e casaco preto, interrompeu-o dizendo:
- Senhor primeiro-ministro, temos três minutos e meio. Temos de continuar.
Blair largou a mão de Perowne e, sem outra despedida que não um ligeiro aceno de cabeça e um breve franzir dos lábios, voltou-se e deixou que o conduzissem. E então o seu staff, a imprensa, os bajuladores, os guarda-costas, os funcionários da galeria e o director apareceram por trás dele e em poucos segundos os Perowne viram-se sozinhos na galeria com os tijolos, como se nada tivesse acontecido.
Ao ver do seu carro as múltiplas imagens ora do entrevistador, ora do convidado, Perowne pergunta a si próprio se esses momentos, essas facadas de dúvida e pânico serão cada vez mais frequentes nos dias e nas noites do primeiro-ministro. Pode não haver uma segunda resolução das Nações Unidas. O próximo relatório dos inspectores também pode ser inconclusivo. Os Iraquianos podem usar armas biológicas contra os invasores. Ou, como um antigo inspector teima em insistir, pode já não haver armas de destruição em massa. Fala-se de fome e de três milhões de refugiados, e estão já a ser preparados campos para os acolher na Síria e no Irão. A ONU prevê centenas de milhares de mortos entre os Iraquianos. Pode haver ataques de retaliação em Londres. E os Americanos continuam bastante vagos no que respeita aos planos para o pós-guerra. Talvez não os tenham. Em suma, Saddam pode ser derrubado, mas por um preço demasiado alto. É um futuro que ninguém pode prever. Os ministros reafirmam a sua lealdade, há vários jornais que apoiam a guerra, no país há uma quantidade razoável de pessoas ansiosas que a apoiam, havendo também muitas que discordam dela, mas ninguém tem dúvidas de que na Grã-Bretanha há uma, e só uma pessoa, a conduzir a questão. Suores nocturnos, sonhos horríveis, as fantasias impiedosas e entrecortadas da insónia? Ou apenas solidão? Sempre que o vê no ecrã, Henry procura uma consciência do abismo, essa fenda da grossura de um cabelo, o momento em que o rosto fica imóvel, a breve hesitação que testemunhou em privado. Mas a única coisa que vê é certeza ou, na pior das hipóteses, uma seriedade forçada.
Encontra um lugar de estacionamento para residentes do outro lado da rua, mesmo à frente da porta da sua casa. Ao tirar o saco das compras da mala do carro, vê na praça, preguiçosamente sentados no banco mais próximo da sua casa, os mesmos jovens que costumam lá estar ao fim da tarde e depois outra vez a altas horas da noite. São dois indivíduos das índias ocidentais e dois, às vezes três, do Médio Oriente, talvez turcos. Todos eles têm um ar
próspero e satisfeito e muitas vezes encostam-se aos ombros uns dos outros e riem-se com sonoras gargalhadas. Na curva está um Mercedes, do mesmo modelo do de Perowne, mas preto, com uma pessoa sentada ao volante. De vez em quando há um desconhecido que pára a falar com o grupo. Um deles vai até ao carro, fala com o condutor, volta para junto dos outros, trocam opiniões, e o desconhecido continua o seu caminho. São reservados e nada ameaçadores. Durante muito tempo, Perowne achou que eram traficantes de droga, que tinham ali um posto de venda talvez de cocaína, ou ecstasy e marijuana. Os seus clientes não parecem suficientemente assombrados ou degradados para serem consumidores de heroína ou de crack. Foi Theo que corrigiu o pai. O grupo vende bilhetes para concertos de grupos marginais de rap por toda a cidade. Também vendem CD piratas e arranjam bilhetes baratos para voos de longa distância, instalações e DJ para festas, limusinas para casamentos e aeroportos e seguros de saúde e de viagem mais baratos; contra uma comissão, apresentam pessoas que pretendem exilar-se ou estrangeiros ilegais a solicitadores. Não pagam impostos nem têm despesas administrativas e por isso os seus preços são altamente competitivos. Sempre que Perowne os vê tem um desejo vago, como está a acontecer no momento em que vai a atravessar a rua em direcção à sua porta, de lhes pedir desculpa. Um dia há-de comprar-lhes qualquer coisa.
Theo está na cozinha, talvez a preparar um dos seus pequenos-almoços de fruta e iogurte. Henry deixa o peixe no cimo das escadas, cumprimenta-o lá de cima e sobe ao segundo andar. O quarto está demasiado quente e claustrofóbico, e despojado por causa da luz do dia. Tem muito melhor aspecto e é muito mais acolhedor sob a luz ténue dos candeeiros, depois de um dia de trabalho e com a perspectiva de uma noite de sono; estar ali ao princípio da tarde fá-lo pensar em constipações. Tira os ténis, descalça as meias húmidas e põe-nas no cesto da roupa suja e vai até à janela do meio para a abrir. E lá está ele outra vez, ou talvez seja outro, mesmo por baixo da sua janela, a dar lentamente a curva no sítio onde a rua se cruza com a praça. Quase só consegue ver o tejadilho, e a sua linha de visão do espelho lateral está completamente tapada, mesmo quando se debruça à janela. Também não consegue ver o condutor nem qualquer dos passageiros. Vê-o dar a volta pelo lado norte da praça e voltar à direita para Conway Street e desaparecer. Desta vez não se sente tão distanciado. Mas então como se sente? Interessado ou ligeiramente perturbado? A marca é vulgar e até há dois ou três anos o vermelho era uma das suas cores preferidas. Por outro lado, porquê afastar a possibilidade de ser Baxter? A sua situação é terrível e fascinante - a sua vida dura de homem da rua deve ter camuflado o desejo de uma vida melhor, ainda antes de a doença degenerativa ter dado os seus primeiros sinais. Perowne afasta-se da janela e dirige-se à casa de banho. Baxter nem precisaria de o seguir. O Mercedes dá bastante nas vistas e está estacionado mesmo à frente de casa. É verdade que gostava de ver Baxter outra vez, no horário das consultas, de ficar a conhecer melhor a sua história e de lhe dar alguns contactos úteis. Mas Henry não quer que ele ande a vaguear pela praça.
Quando acaba de se despir, o telemóvel toca por baixo do monte de roupa que deixou cair aos seus pés. Procura-o e atende.
- Querido? - diz Rosalind.
Finalmente. Que momento poderia ser melhor? Com o telefone na mão, deita-se nu, de costas, em cima da cama ainda desfeita, onde algumas horas antes fizeram amor. Sente na sua pele exposta ondas de calor vindas dos radiadores, como uma brisa do deserto. O termostato está alto de mais. Tem uma ligeira erecção. Se ela não estivesse a trabalhar, se não fosse um fim-de-semana de crise no jornal, se o seu editor de falinhas mansas não fosse tão maçador quando está em causa a liberdade de imprensa, ela e Henry poderiam estar ali juntos agora. É ali que por vezes passam uma ou duas horas nas tardes de sábado no Inverno. A sexualidade do entardecer.
O espelho da casa de banho, com a ajuda de uma boa iluminação e de um ângulo correcto, permite a Henry lembrar-se de vez em quando da sua juventude. Mas Rosalind, por um truque qualquer de luz interior ou pela forma louca como a ama, continua a parecer-se imenso, constantemente, com a mulher que conheceu há muitos anos. Talvez uma irmã mais velha dessa Rosalind, mas ainda não a mãe. Quanto tempo poderá continuar assim? No essencial, certos elementos individuais continuam iguais: a palidez quase luminosa da pele - a sua mãe, Marianne, era de origem celta; as sobrancelhas finas, delicadas - quase inexistentes; aqueles olhos verdes calmos e suaves; e os seus dentes, sempre brancos (os dele estão a ficar cinzentos), os de cima perfeitos, os de baixo ligeiramente inclinados - uma imperfeição infantil que ele nunca quis que ela reparasse; a forma como o seu sorriso sincero se rasga a partir de um esboço tímido; nos lábios, um brilho rosa-alaranjado inteiramente seu; o cabelo, agora curto, ainda ruivo acastanhado. Quando está descontraída, o seu rosto tem um ar de inteligência alegre, com o mesmo desejo intacto de divertimento. Continua a ser um rosto belo. Como qualquer pessoa de quarenta anos, tem os seus momentos de desânimo, abatida à frente do espelho antes de ir para a cama. Ele próprio já viu em si esse olhar rígido de apreciação despótica. Vamos todos a viajar na mesma direcção. É compreensível que ela não fique inteiramente convencida quando ele lhe diz que adora a gordura suave das suas ancas ou o volume dos seus seios. Mas é verdade. Adoraria estar ali deitado com ela agora. Supõe que o estado de espírito dela seja muito diferente do seu, com os fatos escuros que costuma levar para o trabalho, a entrar e a sair de reuniões, e por isso senta-se na cama para ser mais sensato a falar com ela.
- Como é que vão as coisas?
- O juiz está preso num engarrafamento na ponte de Blackfriars. É por causa da manifestação. Mas acho que ele nos vai dar o que queremos.
- Anular a proibição?
' - Sim. Na segunda-feira de manhã. ; Parece estar com pressa e satisfeita.
- És um génio - diz Henry. - E o teu pai?
- Não posso ir buscá-lo ao hotel por causa da manifestação. O trânsito está um caos. Ele vai de táxi. - Faz uma pausa e pergunta, com um ritmo um pouco menos acelerado: - E tu, como é que estás? - A inflexão descendente e o prolongamento da última palavra estão cheios de ternura; são uma referência clara à manhã daquele dia. Estava enganado em relação ao estado de espírito dela. Está prestes a dizer-lhe que está deitado nu em cima da cama, que a deseja, mas muda de ideias. Não é altura para excitações ao telefone, quando tem de voltar a sair e ela tem de trabalhar. Aliás, tem coisas mais importantes para lhe dizer que vão ter de esperar até depois do jantar ou à manhã do dia seguinte.
- Vou a Perivale assim que tomar um duche - diz. Mas, como isto não responde à pergunta dela, acrescenta:
- Estou bem, mas estou desejoso de estar ao pé de ti. - Isto também não lhe parece suficiente e por isso acrescenta:
- Aconteceram várias coisas que quero contar-te.
- Que coisas?
- Nada de mal. Prefiro falar contigo quando estiver ao pé de ti.
- Está bem. Mas dá-me uma pista.
- Ontem à noite, como não conseguia dormir, fui para a janela e vi aquele avião de carga russo.
- Deve ter sido assustador, querido. E que mais? Hesita, e a sua mão, por vontade própria, acaricia a
zona à volta da ferida no peito. Qual seria o título, como ela costuma dizer? Violência no trânsito.
Tentativa de agressão. Doença neurológica. Espelho lateral. Espelho retrovisor.
- Perdi o jogo de squash. Estou a ficar velho para aquilo.
- Não acredito que seja isso - diz Rosalind, com uma gargalhada. Parece mais tranquila. - Esqueceste-te de uma coisa. O Theo tem um ensaio importante hoje à tarde. Há uns dias ouvi-te prometeres que ias lá.
- Bolas! A que horas é? - Não se lembra de ter feito essa promessa.
- Às cinco, naquele sítio em Ladbroke Grove.
- É melhor despachar-me.
Levanta-se da cama e leva o telemóvel para a casa de banho para se despedirem.
- Adoro-te.
- Adoro-te - responde Rosalind e desliga.
Henry põe-se debaixo do chuveiro, uma cascata forte bombeada do terceiro andar. Quando aquela civilização se desmoronar, quando os Romanos, sejam eles quem forem desta vez, partirem, e começar uma nova idade das trevas, este será um dos primeiros luxos a desaparecer. Os anciãos, acocorados junto à fogueira, contarão às crianças incrédulas que as pessoas tomavam banho nuas em pleno Inverno sob jactos de água quente e limpa, que tinham sabões perfumados e uns líquidos viscosos amarelados e vermelho-vivos com que esfregavam o cabelo para o tornar mais brilhante e mais volumoso do que era na realidade, e ainda uns toalhões brancos quase do tamanho de togas à sua espera em toalheiros aquecidos.
Anda de fato e gravata cinco dias por semana. Hoje vestiu umas calças de ganga e uma camisola e calçou umas botas castanhas, e quem é que vai dizer que ele próprio não é um grande guitarrista da sua geração? Ao dobrar-se para apertar os atacadores sente uma forte dor nos joelhos. Não faz sentido esperar até fazer cinquenta anos. Vai manter o squash por mais seis meses e fazer uma última maratona de Londres.
Conseguirá aguentar que essas duas coisas sejam passatempos do passado? Ao espelho, é pródigo no aftershave - sobretudo no Inverno há por vezes um cheiro no ar no lar da terceira idade que prefere contrariar.
Sai do quarto e, de lado, desce o primeiro lanço de escadas a dois e dois, sem se agarrar ao corrimão. É um truque que aprendeu na adolescência e que hoje em dia consegue fazer melhor do que nunca. Mas uma bota que escorregue, um cóccix partido, seis meses de costas na cama, um ano a reconstituir os músculos enfraquecidos - essa fantasia premonitória ocupa-o por menos de um segundo, mas funciona. Desce o lanço seguinte da forma normal.
Na cozinha, na cave, Theo já pôs o peixe no frigorífico. A televisão está sem som e a imagem mostra um helicóptero a sobrevoar Hyde Park. Os manifestantes surgem como uma mancha castanha, como líquen numa rocha. Theo preparou o seu pequeno-almoço numa grande tigela de salada, onde está quase um quilo de farinha de aveia, farelo, frutos secos, mirtilos, framboesas, passas, leite, iogurte, e pedaços de tâmaras, maçãs e bananas.
- És servido? - pergunta Theo, acenando para a tigela.
- Como o que tu deixares.
Henry tira um prato com frango e batatas cozidas do frigorífico e come de pé. O filho está sentado num banco alto na bancada central, debruçado sobre a sua gigantesca tigela. Ao lado das migalhas, dos restos de papel e das cascas da fruta estão algumas pautas manuscritas com acordes assinalados a lápis. Os seus ombros são largos, e os músculos dobrados esticam o tecido da t-shirt branca. O cabelo, a pele dos braços desnudados, as sobrancelhas espessas castanho-escuras continuam a parecer tão recentes e suaves como quando Theo tinha quatro anos.
- Ainda não te sentes tentado? - pergunta Perowne, apontando para a televisão.
- Tenho estado a ver. Dois milhões de pessoas. É verdadeiramente espantoso.
Naturalmente, Theo é contra a guerra do Iraque. A sua atitude é tão firme e pura como os seus ossos e a sua pele. Tão firme que não sente muita necessidade de andar pelas ruas para fazer valer a sua posição.
- Quais são as últimas sobre o avião? Ouvi a notícia de que tinham sido presos.
- Não dizem nada. - Theo deita mais leite na tigela. - Mas há uns boatos na Internet.
- Sobre o Corão.
- Os pilotos são radicais islâmicos. Um é checheno e o outro argelino.
Perowne puxa um banco e quando se senta sente o apetite desaparecer. Empurra o prato para o lado.
- Então qual era a ideia? Pegam fogo ao avião onde vêm em nome da Jihad e depois aterram em segurança em Heathrow?
- Perderam a coragem.
- Então a ideia deles era juntarem-se à manifestação?
- Mais ou menos. Era uma maneira de afirmarem a sua posição. É isto que acontece a quem faz guerra contra a nação árabe.
Não parece plausível. Mas em geral os homens têm tendência para acreditar. E quando vêem que se enganaram mudam de lado. Ou então têm fé e continuam a acreditar. Com o tempo, ao longo das gerações, esta atitude tem sido talvez a mais eficaz: em caso de dúvida, acreditar. Perowne passou o dia a achar que a história não era o que parecia, e agora Theo está a reforçar essa ideia sugerindo-lhe que ainda não ouviu tudo. Por outro lado, se os rumores sobre o avião vêm da Internet, aumentam as possibilidades de não serem verdadeiros.
Henry conta de forma sucinta o que aconteceu com Baxter e os amigos, fala dos sintomas da doença de Huntington e da saída airosa que arranjou.
- Humilhaste-o - diz Theo. - É melhor teres cuidado.
- Que queres dizer com isso?
- Esses tipos da rua às vezes são muito orgulhosos. Além disso, até custa a acreditar que moremos aqui há tanto tempo e que tu e a mãe nunca tenham sido assaltados.
Perowne olha para o relógio e levanta-se.
- Eu e a mãe não temos tempo para isso. Vemo-nos por volta das cinco em Notting Hill.
- Vais lá. Excelente!
Não o ter pressionado faz parte do encanto de Theo. Se o pai não aparecesse, também não diria nada.
- Comecem sem mim. Sabes como é vir do lar da avó.
- Vamos ensaiar a canção nova. O Chás vai lá estar. Vamos aguentar até tu chegares.
Chás é o amigo de Theo de quem Perowne mais gosta e é também o mais educado. Desistiu do curso de Inglês na Universidade de Leeds no terceiro ano para tocar numa banda. É um milagre que a vida que ele tem tido, com o suicídio da mãe, um pai ausente, dois irmãos membros de uma seita baptista, não o tenha feito perder o seu bom feitio. Deve ter sido qualquer coisa no nome de St. Kitts (santos, miúdos, gatinhos) que produziu tanta amabilidade num gigante. Desde que o conhece que Perowne tem alimentado um vago desejo de visitar a ilha.
Pega num vaso com uma planta que está num canto da sala, uma orquídea cara que comprou há alguns dias na florista ao pé do Heal's. Pára à porta e levanta uma mão em despedida.
- Hoje sou eu que faço o jantar. Não te esqueças de deixar a cozinha em ordem.
- Está bem. - Depois Theo acrescenta sem ironia: - Dá cumprimentos meus à avó. Diz-lhe que gosto muito dela.
Lavado e perfumado, com uma dor ligeira, quase agradável, nos membros, dirigindo-se para oeste no meio de um trânsito fluido, Perowne sente que já não lhe custa tanto ir visitar a mãe.
Já está bastante familiarizado com aquela rotina. Quando já estão frente a frente, com as suas chávenas de chá escuro, a tragédia da situação dela fica obscurecida pela banalidade dos pormenores, pela gestão daqueles minutos sufocantes, pelo esforço de fingir que está a ouvi-la com atenção. Não é difícil estar com ela. O pior é quando se vem embora, antes de a visita se misturar na sua memória com tudo o resto, quando a mulher que ela foi noutros tempos o assombra quando está à porta e se baixa para lhe dar um beijo de despedida. É nessa altura que sente que está a traí-la, quando a deixa na sua vida limitada e foge para a abundância, para o tesouro escondido da sua existência. Apesar desse sentimento de culpa, não pode negar o alívio que sente, a ligeireza do seu passo quando vira as costas e se afasta do lar da terceira idade, tira as chaves do carro do bolso e abraça as liberdades que ela não pode ter. Tudo o que ela tem actualmente cabe no seu pequeno quarto. Aliás, o quarto nem pode considerar-se seu, porque não consegue dar com ele sem ajuda, nem sequer sabe que tem um quarto. E quando lá está não reconhece as coisas dela. Já não é possível levá-la a sua casa, nem levá-la a excursões, porque qualquer viagem, por pequena que seja, a desorienta e assusta. Por isso tem de ficar ali, mas, naturalmente, também não compreende isso.
Mas a ideia da despedida que terá de enfrentar não o incomoda naquele momento. Sente-se finalmente inundado pela suave euforia que se segue ao exercício físico. Aquele bendito opiáceo natural, a betaendorfina, que mitiga todas as dores. No rádio, há uma alegre peça para cravo de Scarlatti que desfia uma progressão de acordes sem nunca chegar a uma conclusão e que parece encaminhá-lo para um destino que, a brincar, se vai afastando dele. Pelo retrovisor não avista qualquer BMW. Naquele troço, onde a Euston Road dá lugar à Marylebone, os sinais de trânsito são accionados sequencialmente, ao estilo de Manhattan, e ele está a ser bafejado por uma onda verde, como um surfista numa onda perfeita de informações simples: em frente! Ou apenas yes! A longa fila de turistas - sobretudo adolescentes - à porta do Madame Tussaud parece menos fútil do que é habitual; uma geração criada com estrepitosos efeitos de Hollywood ainda anseia por escancarar a boca à frente das figuras de cera, como camponeses do século XVIII numa feira no campo. O desorganizado Westway, que se ergue sobre pilares de betão manchados e que ele sobe rapidamente, proporciona subitamente um horizonte de nuvens por cima de um tumulto de telhados. É um daqueles momentos em que sabe bem ser dono de um carro numa cidade, ser o dono daquele carro. Pela primeira vez em muitas semanas, vai em quarta. Talvez até meta a quinta. Um sinal numa baliza por cima das faixas de rodagem indica Oeste e Norte, como se, para lá dos subúrbios, estivesse todo um continente e a promessa de uma viagem de seis dias.
O trânsito deve estar interrompido algures pela manifestação. Durante quase um quilómetro a estrada é só sua. Ao longo de vários segundos tem a sensação de partilhar da visão dos criadores daquela via elevada - um mundo mais puro que favoreça as máquinas e não as pessoas. Uma curva rectilínea fá-lo passar por uns quantos edifícios recentes de escritórios, de vidro e alumínio, com as luzes já acesas naquele princípio de tarde de Fevereiro. Consegue ver pessoas tão aprumadas como modelos arquitectónicos, sentadas à secretária, a olhar para os monitores, mesmo num sábado. É o futuro asseado dos livros de banda desenhada de ficção científica da sua infância - homens e mulheres de fatos justos, sem colarinho, sem bolsos, sem atacadores a arrastar-se pelo chão, sem camisas fora das calças - a viverem uma vida desprovida de lixo e de barafunda, livre de confusões, para poderem combater o mal.
De um ponto alto do viaduto de White City, antes de a estrada regressar à terra por entre fileiras de casas de tijolo vermelho, vê as luzes de stop adensarem-se e começa a travar.
A sua mãe nunca se incomodou com semáforos nem com longas demoras. Há apenas um ano ainda estava bastante bem - esquecida, vaga, mas não assustada - para gostar de andar com ele de carro pelas ruas do oeste de Londres. Os semáforos davam-lhe a oportunidade de observar atentamente os condutores e passageiros dos outros carros. «Olha para aquele. Tem a cara cheia de manchas.» Ou de dizer simplesmente, para fazer companhia: «Outra vez vermelho!»
Dedicara toda a vida ao trabalho doméstico, às rotinas diárias de puxar o lustro, limpar o pó, aspirar e limpar que noutros tempos eram comuns e que hoje em dia apenas são executadas por doentes com perturbações obsessivas compulsivas. Todos os dias, enquanto Henry estava na escola, ela limpava a casa de alto a baixo. As coisas que lhe davam mais satisfação eram um tabuleiro de carne bem assada, o brilho de uma mesa, uma pilha de lençóis engomados e impecavelmente dobrados, uma despensa bem abastecida; ou mais um casaquinho de tricot para mais um bebé de um ramo distante da família. Tudo estava limpo pelo lado de fora, pelo lado de dentro, por trás e pela frente. O forno e as grelhas eram esfregados após cada utilização. A ordem e a limpeza eram a expressão exterior de um ideal de amor que não era revelado. Qualquer livro que ele estivesse a ler era imediatamente arrumado na estante do corredor do andar de cima mal ele o pousasse. O jornal da manhã podia já estar no lixo à hora de almoço. As garrafas de leite vazias que punha à porta para serem levadas estavam tão limpas como as facas da cozinha. Tudo tinha o seu lugar numa gaveta, numa prateleira ou num cabide, incluindo os seus diversos aventais e as suas luvas amarelas de borracha, penduradas num gancho ao lado do relógio em forma de ovo que marcava o tempo de cozedura dos ovos.
É certamente por causa dela que Henry se sente em casa no bloco operatório. Ela gostaria do chão preto encerado, dos ferros cirúrgicos dispostos em filas paralelas nos campos esterilizados e da sala de desinfecção com as suas rotinas quase de devoção - teria admirado a minúcia, as toucas limpas, as unhas curtas. Devia tê-la levado lá enquanto ela ainda estava capaz. Nunca pensara nisso. Nunca lhe ocorrera que o seu trabalho, os seus quinze anos de formação, tivessem alguma coisa a ver com o que ela fazia.
Isso também não lhe ocorrera a ela. Na altura, mal o sabia, mas crescera a achar que ela era pouco inteligente e pouco curiosa. Mas estava enganado. Ela gostava de uma boa e sincera conversa exploratória com as vizinhas. Aos oito anos, Henry gostava de se deitar no chão atrás da mobília para ouvir. Doenças e operações eram assuntos importantes, sobretudo quando associadas à infância. Foi nessa altura que ouviu pela primeira vez as frases «ir à faca» e «ir ao médico». «O que o médico disse» era uma invocação poderosa. Estas escutas podem ter encaminhado Henry para a sua carreira. Havia também longas histórias de infidelidades, ou rumores de infidelidades, de filhos ingratos, da falta de bom senso dos idosos, do que os pais de alguém tinham deixado em testamento e de como uma certa rapariga simpática não conseguia arranjar um marido decente. Era preciso separar as pessoas boas das más, e nem sempre era fácil dizer imediatamente quem pertencia a que grupo. Mais tarde, quando fez as inevitáveis investidas no romance do século xix, durante o curso de Daisy, reconheceu todos os temas da sua mãe. Não havia qualquer tacanhez nos seus interesses. Eles eram partilhados por Jane Austen e por George Eliot. Lilian Perowne não era estúpida nem vulgar, a sua vida não era lamentável, e ele não devia ter sido condescendente para com ela quando era novo. Agora era tarde de mais para pedir desculpa. Ao contrário do que acontece nos romances de Daisy, os momentos de verdadeiros ajustes de contas são raros na vida real; as más interpretações ficam, muitas vezes, por resolver. Também não ficam a exercer pressão por não serem resolvidas. Apenas se esbatem.
As pessoas não se lembram bem, ou morrem, ou morrem os problemas, e o seu lugar é ocupado por novos problemas.
Além disso, Lily tinha uma outra vida que ninguém podia ter previsto, nem de longe supor hoje em dia. Fora nadadora. Numa manhã de domingo, no dia 3 de Setembro de 1939, quando Chamberlain anunciava numa declaração emitida pela rádio a partir de Downing Street que o país estava em guerra com a Alemanha, Lily, com catorze anos, estava numa piscina municipal perto de Wembley a ter a sua primeira lição com uma atleta de sessenta anos que representara a Inglaterra nos Jogos Olímpicos de Estocolmo de 1912 - a primeira competição de natação feminina de sempre. Vira Lily na piscina e oferecera-se para lhe dar lições de graça. Ensinou-a a nadar crawl, um estilo muito pouco feminino. Lily participou nos campeonatos locais nos anos quarenta. Em 1954 representou o Middlesex nos campeonatos intercondados. Ficou em segundo lugar, e a sua pequena medalha de prata esteve sempre por cima da lareira, numa caixa de madeira de carvalho, durante a infância e adolescência de Henry. Agora está numa prateleira no quarto dela. Aquela medalha de prata foi o maior prémio que ela recebeu, mas sempre nadou muito bem, suficientemente depressa para romper as maiores e mais sinuosas ondas que se lhe deparassem.
Claro que ensinou Henry a nadar, mas a recordação que guardava com mais carinho era de quando, aos dez anos, foi a uma visita à piscina local com a escola. Ele e os amigos já se tinham equipado, já tinham tomado duche e estavam parados sobre o chão de mosaicos à espera que acabasse a aula dos adultos. Estavam presentes dois professores, que tentavam a todo o custo conter o entusiasmo das crianças. A certa altura havia apenas uma pessoa na piscina, com uma touca de borracha branca com um friso de pétalas, que ele devia ter reconhecido mais cedo. Toda a turma estava a admirar a velocidade dela quando surgia na pista, o trilho que deixava na água atrás de si e a forma como virava a cabeça de lado para respirar sem que isso interferisse com o seu avanço. Quando viu que era ela convenceu-se de que a tinha reconhecido desde o princípio. Para aumentar ainda mais o seu regozijo, nem sequer teve de anunciar que era ela. Alguém gritou: «É Mrs. Perowne!» Ficaram em silêncio a vê-la chegar ao fim da pista, mesmo junto aos pés deles, e fazer uma vistosa volta por baixo de água, o que na altura era uma novidade. Já a tinha visto nadar muitas vezes, mas aquilo foi algo de inteiramente diferente; todos os amigos dele estavam ali a presenciar a natureza sobre-humana da sua mãe, que ele partilhava também. Claro que ela sabia o que estava a acontecer e, na última pista, deu um show de velocidade demoníaca inteiramente dedicado a ele. Batia os pés, os seus delgados braços brancos elevavam-se e cortavam a água, atrás de si erguia-se uma onda e à sua frente a água baixava. O seu corpo ganhava a forma de um S ondulante em torno dessa onda que ela própria provocava. Era preciso correr ao longo da piscina para conseguir acompanhá-la. Parou no outro lado da piscina, levantou-se, apoiou as mãos na borda e, com um salto, saiu da água. Nessa altura devia ter quarenta anos. Sentou-se, com os pés dentro de água, tirou a touca e, inclinando a cabeça, sorriu timidamente para eles. Um dos professores incentivou os miúdos a aplaudirem com solenidade. Embora corresse o ano de 1966 - os rapazes estavam a deixar crescer o cabelo por cima das orelhas e as raparigas iam para as aulas de calças de ganga -, ainda havia muita da formalidade dos anos cinquenta. Henry aplaudiu com os colegas, mas quando os amigos se juntaram à sua volta tinha a voz embargada pelo orgulho, estava demasiado excitado para responder às perguntas deles e sentiu-se aliviado quando pôde meter-se na piscina para esconder os seus sentimentos.
Nas décadas de vinte e trinta houve grandes zonas de terrenos agrícolas a oeste de Londres que desapareceram sob a febre de um rápido desenvolvimento urbanístico, e ainda hoje as ruas de casas sombrias e respeitáveis de dois andares não conseguiram desembaraçar-se do seu ar de construções apressadas. Todas as casas, muito semelhantes, parecem contrafeitas, provisórias, como se soubessem que em breve o solo que está por baixo delas voltaria às sementeiras de cereais e às pastagens. Lily vive apenas a alguns minutos da antiga casa da família em Perivale. Henry gosta de pensar que, por entre a paisagem enevoada da sua demência, há abertas ocasionais em que a sensação de familiaridade talvez a tranquilize. Pelos padrões dos lares da terceira idade, em Suffolk Place todos os pormenores foram cuidados. O lar foi construído no espaço antes ocupado por três casas, que foram demolidas, e mais tarde foi-lhe adicionado um anexo. À frente, os limites do antigo jardim continuam marcados por sebes de alfena e ainda lá sobrevivem dois laburnos. Um dos jardins da frente foi cimentado para fazer um parque de estacionamento para dois carros. Os grandes contentores do lixo por detrás de uma vedação são as únicas pistas de que se trata de uma instituição.
Perowne estaciona e tira o vaso com a planta do banco de trás. Faz uma pequena pausa antes de tocar à campainha - há no ar um cheiro doce e vagamente anti-séptico que lhe recorda os anos que passou naquelas ruas enquanto adolescente, num estado permanente de desejo, de fome de viver, que, visto àquela distância, parece quase de felicidade. Como de costume, é Jenny que abre a porta. É uma rapariga irlandesa, grande e alegre, com uma bata azul de xadrez, que vai começar o curso de enfermeira em Setembro. Henry é tratado com uma consideração especial graças ao seu estatuto de médico - três saquetas extra de chá no bule que em breve levará ao quarto da sua mãe e talvez um prato com bolachas de chocolate. Sem saberem muito um do outro, decidiram-se por uma relação brincalhona.
- Olha o meu querido doutor!
- Como é que está a minha linda moçoila?
No estreito corredor, típico das casas suburbanas, com uma luz amarela que vem do vidro da porta da rua, há uma porta que dá para uma cozinha de luz fluorescente e aço inoxidável, de onde sai o cheiro pegajoso do almoço servido aos idosos duas horas mais cedo. Tendo sido exposto durante tanto tempo à comida institucional, Perowne sente por ela uma ligeira predilecção, ou, pelo menos, ela não lhe desperta repugnância. Do outro lado do átrio há uma porta mais pequena que dá para as três salas de estar das três casas, interligadas entre si. Consegue ouvir o som distante das televisões das outras salas.
- Ela está à sua espera - diz Jenny. Ambos sabem que isso é neurologicamente impossível. O próprio tédio está fora do alcance da sua mãe.
Abre a porta e entra. Ela está à sua frente, sentada numa cadeira de madeira junto a uma mesa redonda com uma coberta de veludo. Por detrás dela há uma janela e a uns três metros outra janela já da outra casa. Há outras mulheres dispostas pelos cantos da sala, sentadas em cadeiras de costas altas com braços de madeira curvos. Há uma televisão pendurada na parede fora do alcance delas. Algumas estão a vê-la, outras simplesmente a olhar. Outras estão a olhar para o chão. Agitam-se, parecem balançar, quando ele entra, como se tivessem sido suavemente bafejadas pelo ar que a porta faz deslocar. Há uma resposta geral, alegre, ao seu «Boa tarde, minhas senhoras», e olham para ele com interesse. Nesta fase, ainda não têm a certeza se ele será ou não um familiar seu. À sua direita, no canto mais distante das três salas interligadas, está Annie, uma mulher de cabelos grisalhos revoltos, que irradiam da sua cabeça em madeixas macias. Vem o mais depressa que pode, a arrastar os pés, sem ajuda, em direcção a ele. Quando chega ao fim da terceira sala dá a volta e continua a andar para trás e para a frente durante todo o dia, até que alguém a guia para a mesa ou para a cama.
A sua mãe observa-o atentamente, ao mesmo tempo satisfeita e ansiosa. Acha que conhece aquela cara; talvez seja o médico, ou o homem que vai lá arranjar coisas. Está à espera de uma pista. Ele ajoelha-se e pega-lhe na mão, que é macia, seca e muito leve.
- Olá, mãe, Lily. Sou o Henry, o seu filho Henry.
- Olá, querido. Como estás?
- Vim visitá-la. Vamos sentar-nos no seu quarto.
- Que pena, querido. Não tenho quarto. Estou à espera de ir para casa. Vou apanhar o autocarro.
Custa-lhe muito ouvi-la dizer estas coisas, apesar de saber que se refere à casa da sua infância, onde julga que a mãe está à espera dela. Dá-lhe um beijo no rosto e ajuda-a a levantar-se, sentindo nos seus braços o tremor causado pelo esforço e pelo nervosismo. Como sempre, nos primeiros momentos de consternação que sente ao vê-la os seus olhos ficam a arder.
Ela protesta sem convicção:
- Não sei onde é que queres ir.
Henry não gosta de falar com a jovialidade forçada com que as enfermeiras falam nas enfermarias, mesmo com os doentes adultos sem qualquer deficiência mental. Vá lá, seja boazinha e engula isto. Mas fá-lo, em parte para disfarçar os seus próprios sentimentos.
- A mãe tem um quarto lindo. Assim que o vir vai-se lembrar. Agora vamos por aqui.
De braço dado, atravessam lentamente as outras salas de estar, afastando-se para deixar Annie passar. É reconfortante que Lily esteja bem vestida. As ajudantes sabiam que ele vinha. Está com uma saia vermelho-escura e uma blusa de algodão a condizer, umas meias pretas e uns sapatos pretos. Está sempre bem vestida. A geração dela deve ter sido a última a preocupar-se com os chapéus. Havia sempre uma série deles, todos parecidos, na prateleira de cima do roupeiro dela, aninhados num reduto de naftalina.
Quando chegam ao corredor ela volta para a esquerda e ele tem de pôr a mão sobre o seu ombro estreito para a guiar para o outro lado.
- Cá está. Reconhece a porta?
- Nunca vim para este lado.
Abre-lhe a porta e fá-la entrar. O quarto tem uns dois metros e meio por três, com uma porta envidraçada que dá para um pequeno jardim nas traseiras. A cama, de pessoa só, tem um edredão às flores e sobre ela estão alguns brinquedos que faziam parte da sua vida muito antes de ter adoecido. Alguns dos outros ornamentos - um pisco pousado num ramo de madeira, dois esquilos de vidro com formas exageradas - estão num armário de canto de vidro. Outros estão arrumados num aparador junto da porta. Na parede por trás do lavatório está uma fotografia de Lily e de Jack, o pai de Henry, num jardim. A fotografia ainda apanha a pega de um carrinho de bebé, onde presumivelmente estaria deitado Henry. Está bonita, com um vestido branco de Verão e a cabeça inclinada com aquele jeito tímido, enigmático, de que Henry se lembra tão bem. O homem, ainda novo, está a fumar um cigarro e tem vestido um blazer e uma camisa branca aberta no pescoço. É alto, ligeiramente curvado, e tem umas mãos grandes como o filho. Tem um sorriso rasgado e despreocupado. É sempre útil ter provas consistentes de que os idosos foram felizes quando eram novos. Mas há também um elemento algo ridículo na fotografia. O casal parece vulnerável, um alvo fácil de troça, por não saber que a sua juventude é apenas um episódio nem que aquele objecto saboroso que arde na mão direita de Jack irá contribuir - é uma teoria de Henry - para a sua morte súbita nesse mesmo ano.
Não tendo conseguido lembrar-se da existência do seu quarto, Lily não fica surpreendida por se encontrar nele.
Esquece instantaneamente que não sabia que ele existia. No entanto, hesita, sem saber onde há-de sentar-se. Henry acompanha-a até à cadeira de costas altas junto à janela e senta-se de frente para ela na beira da cama. Está um calor terrível, ainda mais do que no quarto dele. Talvez o seu sangue ainda esteja sob o efeito do jogo, do duche quente e do calor do quarto. Gostaria de se deitar na cama, de pensar no seu dia e talvez de passar pelas brasas. De repente a sua vida parece-lhe extremamente interessante, vista dos confins daquele quarto. Naquele momento, com o edredão por baixo dele e o calor sente um peso nos olhos e não consegue deixar de os fechar. E a visita ainda há pouco começou. Para despertar, tira a camisola e depois mostra a Lily a flor que trouxe.
- Olhe - diz. - É uma orquídea para o seu quarto. Quando lhe estende o vaso e a frágil flor branca balança entre eles, ela encolhe-se.
- Porque é que tens isso?
- É para si. Vai estar sempre em flor durante todo o Inverno. Não é bonita? É para si.
- Não é minha - diz Lily com firmeza. - Nunca vi isso. Teve a mesma conversa de surdos da última vez.
A doença progride através de pequenos trombos, que passam despercebidos, nos vasos sanguíneos do cérebro. A sua acumulação provoca um declínio cognitivo, pela desintegração das redes neurais. Pouco a pouco, está a perder o conhecimento. Agora perdeu a percepção da ideia de presente, e com ela o prazer de o receber. Adoptando mais uma vez o tom da enfermeira jovial, diz-lhe:
- Vou pô-la num sítio onde possa vê-la.
Ela prepara-se para protestar, mas a sua atenção dispersa-se. Tem algumas peças decorativas de porcelana numa prateleira por cima da cama, mesmo por detrás do filho. De repente assume um tom conciliatório.
- Tenho muitos pires e chávenas. Por isso, posso sempre sair com um deles. O problema é o espaço entre as pessoas ser tão pequeno - levanta duas mãos trémulas para lhe mostrar um intervalo - que quase não se consegue passar entre elas. Há demasiadas ligações.
- Concordo - diz Henry, recostando-se de novo na cama. - Há demasiadas ligações.
As lesões dos coágulos dos pequenos vasos tendem a acumular-se na substância branca e a destruir a conectividade da mente. Ao longo desse processo, antes de ele estar concluído, Lily vai conseguindo debitar os seus tratados incoerentes, os seus monólogos absurdos, com uma seriedade comovente. Não duvida nem um bocadinho de si própria. Também não pensa que ele não é capaz de a seguir. A estrutura das frases mantém-se intacta, e as inflexões das suas várias descrições fazem sentido. Gosta de o ver acenar com a cabeça e sorrir, e concordar com ela de vez em quando.
Não olha para ele enquanto tenta organizar as ideias; olha para lá dele, concentrando-se em qualquer coisa que lhe escapa, como se estivesse a olhar por uma janela para uma paisagem sem fim. Vai para falar, mas fica em silêncio. Os seus olhos verdes pálidos, afundados em reentrâncias de pele castanho-claras finamente enrugada, parecem pedras cobertas de pó vistas sob um vidro, sem brilho, sombrios. Dão a sensação de não compreenderem nada. Henry não consegue dar-lhe notícias da família - a referência a nomes desconhecidos, a quaisquer nomes, pode deixá-la alarmada. Por isso, embora ela não perceba, ele fala-lhe muitas vezes do seu trabalho. O que a atrai é o som, o tom emocional de uma conversa amigável.
Prepara-se para lhe falar de Andrea Chapman, de como está a recuperar bem, quando de repente Lily começa a falar. A sua voz parece ansiosa, até um pouco quezilenta.
- E sabes aquela coisa... tu sabes, tia, aquela coisa que as pessoas põem nos sapatos para eles... tu sabes?
- Graxa? - Não percebe porque é que ela lhe chama tia, nem sabe qual das suas muitas tias está a assombrá-la.
- Não, não. Põem aquilo por cima dos sapatos e esfregam com um pano. Bem, é parecido com graxa. É mais ou menos isso. Tínhamos bancadas e só Deus sabe mais o quê ao longo da rua. Tínhamos tudo menos aquilo de que precisávamos, porque estávamos no sítio errado.
De repente, ri-se. As coisas estão a ficar mais claras para ela.
- Se virares o quadro ao contrário e tirares a parte de trás como eu fiz vais achar tanta piada. Era esse o segredo. Rimo-nos tanto!
E ri-se alegremente, como fazia dantes, e ele também se ri. Era esse o segredo. Agora está longe, está a descrever o que talvez seja a memória desintegrada de uma festa na rua e de uma pequena aguarela que comprou uma vez numa venda de caridade.
Passado algum tempo, quando Jenny chega com os refrescos, Lily olha fixamente para ela sem a reconhecer. Perowne levanta-se e liberta algum espaço numa mesa baixa. Repara no ar de desconfiança com que Lily observa alguém que toma por um desconhecido e por isso, assim que Jenny sai, antes de Lily poder falar, Henry diz-lhe:
- É mesmo uma rapariga encantadora. Sempre prestável.
- É maravilhosa - concorda Lily.
A recordação de quem esteve no quarto já está a desaparecer, mas a deixa emocional dele é irresistível, e ela sorri imediatamente e começa a elaborar novos pensamentos, enquanto ele tira as seis saquetas de chá do bule de metal.
- Vem a correr, mesmo que o caminho seja estreito. Quer vir numa daquelas coisas compridas, mas não tem bilhete. Mandei-lhe o dinheiro, mas ela não o tem na mão. Quer música, e eu disse-lhe que talvez tu trouxesses uma banda e tocasses. Mas estou preocupada com ela. Perguntei-lhe porque é que punha tantas fatias numa tigela se ninguém estava de pé? Não pode ser ela a fazer aquilo.
Ele sabe de quem ela está a falar e fica à espera de mais. Depois diz:
- Devia ir vê-la.
Há muito tempo que não tenta explicar-lhe que a mãe dela morreu em 1970. Agora é mais fácil apoiar a ilusão e manter a conversa. Tudo pertence ao presente. A sua preocupação imediata é impedir que ela coma uma saqueta de chá, como quase aconteceu da última vez. Empilha-as num pires que põe no chão junto ao seu pé. Põe uma chávena meio cheia ao alcance dela e dá-lhe um biscoito e um guardanapo. Ela abre-o por cima do colo e coloca cuidadosamente o biscoito no centro. Leva a chávena aos lábios e bebe. Em momentos como aquele, quando ela executa bem rotinas há muito estabelecidas e está bem arranjada, com as suas roupas a condizer, uma velhota de 77 anos com um aspecto perfeito, com umas pernas espantosas para a sua idade, ele consegue imaginar que foi tudo um erro, um sonho mau e que ela deixará o seu quarto minúsculo e irá com ele para o centro da cidade e comerá sopa de peixe com a nora e os netos e ficará algum tempo lá em casa.
- Estive lá na semana passada, tia - diz Lily. - Fui de autocarro, e a minha mãe estava no jardim. Disse-lhe: «Vais lá, vês o que é que tens e depois equilibras tudo.» Ela não está bem. São os pés. Vou lá um minuto e perco logo uma camisola dela.
Como teria sido estranho para a mãe de Lily, uma mulher reservada, nada maternal, saber que aquela menina pequenina que andava agarrada às saias dela iria um dia, num futuro remoto, numa data de ficção científica no século seguinte, passar todo o tempo a falar dela e a ansiar por estar em casa com ela. Se calhar isso tê-la-ia tornado mais terna.
Agora Lily vai ficar a falar enquanto ele estiver ali sentado. É difícil dizer se é feliz. Às vezes ri-se, outras vezes descreve discussões e ofensas sombrias, e a sua voz assume um tom indignado. Em muitas das situações que invoca está a argumentar com um homem que não percebe o sentido do que ela diz.
- Disse-lhe que era qualquer coisa que ia de licença e ele disse que não queria saber e que eu podia deitar isso fora. Eu disse-lhe que não deixasse aquilo ficar ao lume. E as coisas todas novas que é preciso ir buscar.
Quando ela fica muito agitada com a história que está a contar, Henry atalha, ri-se muito alto e diz: «Essa tem muita piada, mãe!» Como é sugestionável, ela também se ri e a sua disposição muda, e logo a seguir conta uma história mais feliz. Por agora parece neutra - há um relógio e uma camisola que aparece repetidamente, um espaço demasiado estreito para se passar - e, enquanto bebe o chá forte, meio a ouvir, meio a dormir no calor abafado do pequeno quarto, Henry pensa que daí a trinta e cinco anos ou menos pode ser ele, despojado de tudo o que faz e tem, uma figura engelhada a andar sem destino à frente de Theo ou Daisy, enquanto eles esperam até poderem voltar para uma vida que estará para lá da compreensão dele. Uma tensão arterial alta é um forte indicador da possibilidade de ter um AVC. Da última vez tinha doze vírgula dois e seis vírgula cinco. A sistólica podia ser mais baixa. O colesterol total era cinco ponto dois. Nada bom. Diz-se que a presença de níveis elevados de lipoproteínas pode estar fortemente associada à demência multi-enfartes. Nunca mais come ovos, vai passar a beber sempre leite meio gordo com o café e até o café vai ter de deixar um dia. Não está preparado para morrer, nem está preparado para ficar meio morto. Quer a sua substância branca prodigiosamente conectada e rica em mielina intacta, como um campo de neve imaculado. Queijo também não pode ser. Vai ser impiedoso consigo próprio na luta por uma saúde ilimitada para evitar o destino da mãe. A morte da mente.
- Pus seiva no relógio - está ela a dizer-lhe -, para ficar mais húmido.
Passa uma hora, ele esforça-se por ficar bem desperto e levanta-se, talvez demasiado depressa, porque sente uma súbita tontura. Não é bom sinal. Estende as duas mãos para ela, sentindo-se imenso e instável ao agigantar-se sobre a sua figura minúscula.
- Vamos, mamã - diz suavemente. - Está na hora de me ir embora. Gostava que me acompanhasse à porta.
Com uma obediência infantil, pega-lhe nas mãos e ele ajuda-a a levantar-se da cadeira. Arruma o tabuleiro e põe-no à porta do quarto e depois lembra-se das saquetas de chá, meio escondidas debaixo da cama, e põe-nas também à porta. Teriam sido uma festa para ela. Leva-a pelo corredor, tentando sempre tranquilizá-la, pois sabe que está a entrar num mundo desconhecido. Ela não faz a menor ideia do lado para onde há-de virar quando sai do quarto. Não comenta o facto de todo aquele ambiente lhe ser desconhecido, mas agarra a mão dele com mais força. Na primeira sala estão duas mulheres, uma com o cabelo branco apanhado em tranças e a outra completamente careca a ver televisão sem som. Cyril, como sempre de gravata e casaco desportivo, está a aproximar-se do meio da sala, mas hoje anda com uma bengala e com um gorro com abas nas orelhas. É o único homem residente no lar, dócil e preso a uma fantasia bem definida: está convencido de que é dono de uma grande propriedade e tem de andar a visitar os rendeiros e ser muito educado para eles. Perowne nunca o viu infeliz.
Cyril levanta o boné quando vê Lily e diz-lhe:
- Bom dia, minha querida. Está tudo bem? Tem alguma queixa?
O rosto dela fecha-se e ela desvia o olhar. No ecrã por cima da cabeça dela, Perowne vê a manifestação, ainda em Hyde Park. Uma multidão enorme à frente de um palco provisório e, ao longe, uma figura minúscula a falar a um microfone, depois uma imagem aérea e a seguir os manifestantes a desfilarem com as suas faixas, ainda a entrarem nos portões do parque. Henry e Lily param para deixarem Cyril passar. Há uma imagem da apresentadora sentada atrás de uma secretária da era espacial, e depois o avião que ele viu às primeiras horas do dia, a fuselagem negra num lago de espuma, como um ornamento sem gosto num bolo coberto. A seguir, a esquadra da polícia de Paddington, que dizem estar segura contra qualquer ataque terrorista. No exterior está um repórter a falar para um microfone. Há um desenvolvimento qualquer. Os pilotos serão mesmo muçulmanos radicais? Perowne procura o comando para aumentar o som, mas de repente Lily fica agitada e tenta dizer-lhe qualquer coisa importante.
- Se ficar muito seco, torna a encaracolar. Eu disse-lhe mais de uma vez que tinha de o molhar, mas ele não o pousava.
- Não faz mal - diz-lhe Henry. - Ele vai pousá-lo. Vou dizer-lhe que o faça. Prometo.
Decide esquecer a televisão e deixam a sala. Henry tem de se concentrar na despedida, pois sabe que ela pensa que vai com ele. Vai ter de ficar à porta, a dar a habitual explicação sem sentido de que voltará em breve. Terá de ser Jenny ou uma das outras raparigas a distraí-la para ele poder sair.
Atravessam juntos a primeira sala. Estão a servir chá e sanduíches sem côdea às senhoras que estão sentadas junto da mesa redonda com a coberta de veludo. Ele despede-se delas, mas parecem demasiado distraídas para lhe responderem. Lily está mais satisfeita agora e inclina a cabeça para o braço dele. Quando chegam ao hall vêem Jenny Lavin junto à porta, já a levantar a mão para abrir a fechadura dupla e a sorrir-lhes. Nessa altura a mãe acaricia-lhe a mão com um toque leve como uma pena e diz-lhe:
- Aquilo ali fora parece um jardim, tia, mas é o campo, e podes andar lá o tempo que quiseres. Quando andamos lá sentimo-nos mais leves, como se estivéssemos acima do balcão.
Não consigo lavar os pratos todos sem uma escova, mas Deus há-de olhar por ti e dar-te uma boa sorte, porque é uma prova de natação. Hás-de acabar por conseguir passar de qualquer maneira.
É uma lenta viagem até ao centro de Londres - mais de uma hora para ir de Perivale até Westbourne Grove. O trânsito está compacto em direcção à cidade, para os prazeres de sábado à noite, no preciso momento em que a primeira vaga de autocarros vem a sair com os manifestantes. Durante o vagaroso trajecto até aos semáforos de Gypsy Corner abre a janela para apreciar a cena na sua plenitude - a paciência bovina necessária para um engarrafamento, o cheiro abrasivo dos escapes, o barulho ensurdecedor dos motores parados em seis faixas para este e oeste, a luz amarela dos candeeiros a colorir as carroçarias, o ruidoso batuque dos rádios, as luzes vermelhas dos stops a estenderem-se em direcção à cidade e as brancas a saírem dela. Tenta ver, ou sentir, em termos históricos aquele momento nas últimas décadas da era do petróleo, em que um instrumento criado no século xix atinge a perfeição máxima nos primeiros anos do século xxi; em que a riqueza, sem precedentes, das massas que interagem na impiedosa cidade moderna proporcionam uma visão que em nenhuma era anterior seria possível imaginar. Pessoas comuns! Rios de luz! Quer obrigar-se a ver aquilo como Newton veria, ou os seus contemporâneos Boyle, Hooke, Wren, Willis - homens inteligentes e curiosos do iluminismo inglês, que durante alguns anos tiveram nas suas mentes quase toda a ciência do mundo. De certeza que eram admirados. Mentalmente, mostra-lhes o que está a ver: foi isto que fizemos, isto é uma coisa vulgar do nosso tempo. Toda aquela iluminação seria assombrosa se pudesse vê-la com os olhos deles. Mas não consegue fazê-lo. Não consegue ver para além do peso férreo do presente, ver para além do tédio de um engarrafamento ou da demora para a qual também ele está a contribuir, nem das esperanças comerciais frustradas de uma fileira de lojas atrás das quais esteve parado durante quinze minutos. Não tem a veia lírica necessária para ver para além de tudo aquilo - é uma pessoa realista e nunca consegue fugir da realidade. Mas talvez dois poetas já sejam suficientes numa família.
Depois de Acton o trânsito fica mais fluido. Na penumbra do fim da tarde, uma única faixa vermelha no céu, quase rectangular, um emblema do mundo natural, de uma vastidão que existe algures longe da vista, desaparece lentamente, perseguindo-o pelo espelho retrovisor. Mesmo que as faixas do outro lado da estrada estivessem livres, está contente por não ir nessa direcção. Apetece-lhe ir para casa e recompor-se antes de começar a cozinhar. Tem de ver se há champanhe no frigorífico e levar algumas garrafas de vinho tinto para a cozinha para irem aquecendo. Também o queijo precisa de ser amaciado pelo ar morno do aquecimento central. Precisa de se deitar durante dez minutos. Não está com a menor disposição para ouvir os blues debitados pelo amplificador de Theo.
Contudo, a sua qualidade de pai é tão inelutável como o destino e por fim estaciona numa rua junto de Westbourne Grove, a algumas centenas de metros da antiga sala de espectáculos. Está quarenta e cinco minutos atrasado. Quando chega, o edifício está em silêncio, às escuras e com as portas fechadas, mas estas abrem-se facilmente quando as empurra e por isso tropeça ao entrar no foyer. Espera até que os olhos se adaptem à luz fraca e tenta ouvir qualquer som. Sente o cheiro familiar das alcatifas com pó. Terá chegado tarde de mais? Seria quase um alívio. Passa a sala de entrada e algo que julga ser a bilheteira, até que chega a outra porta dupla. Procura a barra metálica, empurra e entra.
Uns trinta metros à frente está o palco iluminado por uma suave luz azulada, interrompida por alfinetadas vermelhas nos amplificadores.
Junto à bateria, um projector lança um disco vermelho alongado pelo chão da sala, que não tem cadeiras. Não há mais nenhuma luz, a não ser o sinal cor-de-laranja a indicar a saída atrás do palco. Há pessoas a movimentarem-se e a baixarem-se junto dos instrumentos e junto do brilho débil das teclas. Sobre o zumbido indistinto dos altifalantes distingue-se um murmúrio de vozes. Há uma silhueta na parte da frente do palco a ajustar a altura de dois microfones.
Perowne desloca-se para a direita e, no meio de uma escuridão quase total, vai tacteando ao longo da parede até chegar junto do palco. Uma segunda pessoa aparece junto dos microfones com um saxofone, cujos contornos estão bem definidos contra o azul. Em resposta a uma voz, sai das teclas uma única nota, e uma viola baixo afina a corda mais alta com esse som. Uma outra guitarra toca um acorde aberto - todos no mesmo tom, e depois junta-se-lhes um terceiro instrumento. O baterista senta-se, aproxima mais os pratos e experimenta o pedal do bombo. O murmúrio das vozes cessa e os roadies saem pelos lados do palco. Theo e Chás estão na parte da frente do palco, junto dos microfones, a olhar para o auditório.
É só nessa altura que Perowne se apercebe de que o viram chegar e de que tinham estado à espera. A guitarra de Theo começa sozinha com um solo langoroso de dois compassos, uma linha descendente de uma quinta, caindo num acorde forte que flui para uma segunda e fica aí suspenso, uma sétima que acaba por se dissolver; depois irrompem fortes o gongo e cinco notas ascendentes do baixo, iniciando os blues. É uma canção do tipo Stormy Monday, mas os acordes são densos e mais próximos do jazz. As luzes do palco mudam para branco. Theo, imóvel no seu transe habitual, percorre por três vezes os doze compassos. É um som suave, torneado, cheio de feedback, para dar às notas o seu tom de lamento, seguido de curtos glissados. O piano e a guitarra ritmo lançam os seus envolventes acordes jazzísticos.
Henry sente o batimento do baixo no esterno e leva a mão ao sítio magoado. O volume do som está a aumentar e Henry está a sentir-se desconfortável, mas vai resistindo. No estado em que se encontra, preferia estar em casa com um trio de Mozart na aparelhagem e um copo de vinho branco gelado.
Mas não aguenta muito tempo. Há qualquer coisa que se agiganta ou se ilumina dentro dele quando as notas de Theo sobem e, no segundo andamento, atingem um registo mais alto, ficando a pairar no ar. É nisto que os rapazes têm estado a trabalhar e querem que ele ouça. Henry fica comovido. Está a apanhar a ideia, a energia da sua exuberância e perícia. Descobre, ao mesmo tempo, que a canção não segue o ritmo habitual de um blues de doze compassos. Há uma parte no meio com uma melodia etérea que sobe e desce em semitons. Chás inclina-se para o microfone para cantar com Theo, numa harmonia estranha e fechada.
Baby, you can choose despair, Or you can be happy if you dare. So let me take you there, My city square, city square.
Depois Chas, com os truques que trouxe de Nova Iorque ainda frescos, desvia-se, pega no saxofone e ataca numa nota alta e irregular, como uma voz que a alegria faz falhar, que se prolonga, prolonga, até cair numa espiral descendente, desenvolvendo a introdução de Theo e fazendo a banda regressar aos doze compassos. Do saxofone irrequieto saem ritmos entrecortados e notas que se prolongam quando o acorde muda e depois são libertadas em sequências selvagens. Theo e o viola baixo repetem em oitavas agressivas uma sequência que varia de formas inesperadas, sem nunca voltar ao mesmo ponto. É um blues rápido que origina um ritmo acelerado.
Na terceira volta de Chás vêm os dois ao microfone e ao refrão cadenciado em harmonias ligeiramente dissonantes. Estará Theo a homenagear o seu professor, Jack Bruce ou os Cream ?
So let me take you there, My city square, city square.
É então a vez das teclas, e os outros juntam-se ao seu riff difícil e circular.
Henry já não se sente cansado e afasta-se da parede a que tem estado encostado, dirigindo-se para o centro do escuro auditório, para junto do enorme equipamento de som. Deixa-se submergir por ele. Há momentos raros como aquele, em que os músicos a tocar em conjunto alcançam algo que nunca tinham descoberto nos ensaios ou nos espectáculos anteriores e que está para além da mera competência técnica ou da colaboração entre todos. Nesse momento, a sua expressão torna-se tão calma e graciosa como a amizade ou o amor. É nestas alturas que nos permitem vislumbrar aquilo que poderíamos ser, o melhor que há em nós, um mundo impossível no qual damos tudo o que temos aos outros sem perdermos nada de nós próprios. Lá fora, no mundo real, há planos pormenorizados, projectos visionários de reinos pacíficos, onde todos os conflitos estarão solucionados, toda a gente será feliz para sempre - miragens pelas quais há pessoas dispostas a morrer e a matar. O reino de Cristo na Terra, o paraíso dos trabalhadores, o estado islâmico ideal. Mas só na música, e só em raras ocasiões, é que o pano se levanta de facto sobre este sonho de comunidade, invocado em desespero, até desaparecer com as últimas notas.
Claro que nunca ninguém chega a acordo sobre quando de facto está a acontecer. Henry ouviu-o pela última vez no Wigmore Hall, uma comunidade utópica materializada por instantes num octeto de Schubert, quando os músicos com os instrumentos de sopro, com movimentos discretos do corpo, dobrando-se ou encolhendo-se, fizeram as suas notas deslizar sobre o palco em direcção às cordas, que as devolveram adocicadas. Ouviu-o também há muito tempo na escola de Daisy e Theo, quando uma orquestra da escola gemia tons dissonantes, com um coro formado por alunos e funcionários, tentando tocar uma peça de Purcell, e formou uma harmonia inocente e ditosa que unia crianças e adultos. E agora está também ali, um mundo coerente em que finalmente tudo se ajusta. Está na escuridão a balançar o corpo, olhando para o palco, com a mão direita no bolso a agarrar as chaves. Theo e Chás voltam ao centro do palco para cantarem o seu refrão sublime. Or you can be happy if you dare. Sabe o que a sua mãe estava a querer dizer. Pode andar o tempo que quiser, sente-se mais leve, como se estivesse acima do balcão. Não quer que a canção acabe.
Não se dá ao trabalho de ir estacionar o carro à garagem. Em vez disso, pára mesmo à frente da porta - àquela hora não é proibido parar em cima de uma linha amarela e está ansioso por se apanhar dentro de casa. Mas ainda gasta alguns segundos a ver os estragos na porta do carro - praticamente nulos. Quando desvia os olhos do carro repara que a casa está às escuras. Theo ainda deve estar no ensaio e Rosalind a afinar os últimos pormenores do processo que vai levar a tribunal. Alguns flocos de neve dispersos iluminados pela luz dos candeeiros da rua brilham intensamente contra o preto acetinado das janelas. O sogro e a filha devem estar a chegar, e Henry começa a sentir-se pressionado pelo tempo. No momento em que abre a porta está a tentar lembrar-se das palavras exactas de uma observação que Theo lhe fez há algumas horas e a que na altura não ligou, mas que agora está a incomodá-lo. No entanto, esse esforço não muito intenso de se lembrar dissipa-se quando penetra no calor do átrio de entrada e acende as luzes; uma simples lâmpada basta para suprimir um pensamento. Vai directamente à garrafeira, de onde tira quatro garrafas. A sua sopa de peixe pede um vinho robusto - tinto, não branco. Foi Grammaticus que lhe deu a conhecer um Tautavel, o Cotes de Roussilon Villages, e Henry fez dele o vinho lá de casa - delicioso e por menos de cinquenta libras cada caixa. Abrir as garrafas algumas horas antes de o vinho ser servido é um raciocínio próprio de uma espécie de pensamento mágico; a superfície exposta ao ar é diminuta, não podendo certamente provocar uma diferença detectável. No entanto, Henry quer de facto as garrafas mais quentes e por isso leva-as para a cozinha e põe-nas junto do fogão.
No frigorífico já estão três garrafas de champanhe. Dá um passo em direcção ao leitor de CD, mas depois muda de ideias, porque sente a atracção, como da força da gravidade, do noticiário que irá para o ar na televisão daí a pouco. É uma característica dos tempos que correm, aquela compulsão de saber como vai o mundo e passar a fazer parte do que é geral, de uma espécie de comunidade da ansiedade. É um hábito que se tornou mais forte nos últimos dois anos; o valor das notícias atingiu uma nova escala devido a acontecimentos monstruosos e espectaculares. A possibilidade de eles se repetirem é um fio que tece os dias. O aviso do governo de que é inevitável um ataque contra uma cidade europeia ou americana não é apenas uma forma de descartar as responsabilidades - é uma promessa que causa vertigens. Toda a gente o teme, mas há também um desejo mais obscuro na mente colectiva, uma tentação repugnante de autopunição e uma curiosidade blasfema. Tal como os hospitais têm os seus planos de crise, também as televisões estão prontas a relatar os acontecimentos, e os espectadores à espera. Cada novo acontecimento terá uma dimensão maior e mais espectacular que o anterior. Por favor, não deixem que aconteça. Mas, se acontecer, quero ser o primeiro a saber e a ver e quero vê-lo de todos os ângulos. Ainda por cima, Henry precisa de saber qual é a situação dos pilotos.
A ideia das notícias traz sempre consigo, de uma forma inseparável, pelo menos aos fins-de-semana, a perspectiva de um copo de vinho tinto. Despeja o que resta de uma garrafa de Cotes du Rhône para um copo, liga a televisão, tira-lhe o som e começa a descascar e a picar três cebolas. Sem paciência para as cascas exteriores, finas como papel, faz força com o polegar e faz um golpe profundo que apanha quatro camadas, desperdiçando um terço da cebola. Pica rapidamente o resto e deita-o numa caçarola com muito azeite. O que mais lhe agrada no acto de cozinhar é a sua relativa imprecisão e a falta de disciplina - uma libertação das exigências do bloco operatório. Na cozinha, as consequências de uma falha são menores: desapontamento, um laivo de vergonha, raramente expressos. Ninguém morre. Descasca e pica oito dentes de alho grandes e junta-os às cebolas. Só costuma tirar umas ideias vagas das receitas. Os autores de livros de cozinha que mais admira são os que utilizam expressões como «um punhado», «um toque», «uma mão cheia» disto ou daquilo e os que indicam ingredientes alternativos e encorajam a experimentação. Henry acha que nunca vai ser um bom cozinheiro. Rosalind diz que ele é um bom garfo. Despeja várias malaguetas de um frasco para a palma da mão, esmaga-as e junta essa massa bem como as sementes às cebolas e aos alhos. Começa o noticiário na televisão, mas ele não aumenta o volume do aparelho. É a mesma imagem de helicóptero de antes de ter anoitecido, a mesma multidão a encher o parque, a mesma festa colectiva. Quando as cebolas e os alhos começam a alourar, junta-lhes um bocadinho de açafrão, algumas folhas de louro, raspa de casca de laranja, orégãos, cinco filetes de anchovas e duas latas de tomate pelado. A televisão transmite extractos de discursos de um conceituado político de esquerda, de uma estrela pop, de um dramaturgo e de um sindicalista no enorme palco montado em Hyde Park. Mete as três raias numa panela para fazer caldo. As cabeças estão intactas e os lábios cheios, com um toque feminino. Um graduado da polícia está a responder a perguntas sobre a manifestação. Pelo seu sorriso discreto e ligeira inclinação da cabeça, parece satisfeito com a forma como o dia correu.
Henry tira uns doze mexilhões do saco de rede verde e junta-os às raias. Se estiverem vivos e a sofrer, não quer saber. O mesmo jornalista de ar sério volta ao ecrã, mexendo a boca para dizer tudo o que há a saber sobre aquela multidão ali reunida, num número sem precedentes. O molho do tomate está a borbulhar juntamente com as cebolas e o resto dos ingredientes e a ganhar um tom vermelho-alaranjado por causa do açafrão.
Sem ter ainda recuperado completamente a audição por causa do ensaio e com os sentimentos ainda confusos, ou até embotados, pela visita à mãe, Perowne decide que tem de ouvir uma coisa enérgica, por exemplo Steve Earle, segundo Theo o mentor de Springsteen. Mas o disco que quer ouvir, El Corazon, está lá em cima e por isso primeiro bebe o vinho e continua a olhar para a televisão, à espera da sua história. O primeiro-ministro está a fazer o tal discurso em Glasgow. Perowne liga o som a tempo de o ouvir dizer que o número de pessoas que participaram na manifestação é inferior ao número de mortes causadas por Saddam. É um argumento inteligente, a única coisa que haveria a dizer, mas devia tê-lo dito desde o princípio. Agora é tarde de mais. Depois das afirmações de Blix, parece uma medida táctica. Henry desliga o som. Lembra-se de como está satisfeito por estar a cozinhar - nem a consciência dessa satisfação a diminui. Deita o resto dos mexilhões para um passador e esfrega-os com uma escova debaixo de água a correr. As amêijoas, com uma ligeira coloração verde, parecem frágeis e puras, e quase não as lava. A espinha de uma das raias ficou arqueada, como se ela quisesse fugir da água a ferver. Quando a empurra com uma espátula, a coluna vertebral parte-se, a seguir à T3. No Verão passado operou uma adolescente que tinha partido a coluna na C5 e na T2 ao cair de uma árvore num festival de música pop, onde se tinha empoleirado para tentar ver melhor os Radiohead. Tinha acabado o liceu e queria ir estudar russo em Leeds. Está num centro de reabilitação há seis meses e está melhor. Mesmo assim, Henry afasta essa recordação. Não quer pensar em trabalho, quer cozinhar. Tira do frigorífico uma garrafa de vinho branco, Sancerre, e deita um quarto de litro para o refogado.
Põe os rabos de peixe-anjo em cima de uma tábua de cozinha, corta-os em pedaços e põe-nos numa tigela branca grande. Depois tira o gelo do camarão tigre e mete-o também na tigela. Noutra tigela põe as amêijoas e os mexilhões. Põe as duas tigelas no frigorífico, tapadas com pratos. A televisão mostra agora o edifício das Nações Unidas em Nova Iorque e a seguir Colin Powell a entrar numa limusina preta. A história de Henry está a ser despromovida, mas ele não se importa. Limpa a cozinha, deitando todo o lixo espalhado sobre a bancada central para o caixote e lavando as tábuas com a água a correr. O passo seguinte é deitar o caldo onde as raias e os mexilhões têm estado a cozer para a caçarola. Depois de o fazer, calcula que tem mais ou menos dois litros e meio de caldo alaranjado, que deixa a cozer por mais cinco minutos. Voltará a aquecê-lo antes do jantar, deixando ferver as amêijoas, os mexilhões e os camarões durante dez minutos. Vão comer a sopa de peixe com fatias de pão escuro, salada e, a acompanhar, vinho tinto. Depois de Nova Iorque surge a fronteira do Kuweit com o Iraque e um comboio de camiões militares a deslocar-se por uma estrada no deserto, os soldados a pernoitarem junto dos tanques e depois na manhã seguinte a comerem salsichas em latas de rações de combate. Henry tira dois sacos de salada da última gaveta do frigorífico, despeja-a para um alguidar e lava-a. Um oficial, de certeza com menos de trinta anos, está junto à sua tenda a apontar com um ponteiro para um mapa aberto sobre um cavalete. Perowne não se sente tentado a ligar o som - aquelas notícias da frente de combate têm um tom jovial, censurado, que o deixa desanimado. Escorre a salada e deita-a para uma saladeira. Só porá o azeite, o limão, o sal e a pimenta mais tarde.
Para a sobremesa há queijo e fruta. Theo e Daisy podem pôr a mesa.
Acabou os preparativos no momento em que surge na televisão a notícia do avião em chamas - em quarto lugar. Com uma sensação confusa de que está prestes a aprender qualquer coisa sobre si mesmo, aumenta o volume e fica a olhar para o minúsculo ecrã enquanto limpa as mãos a uma toalha. O facto de vir em quarto lugar pode indicar que não há novos desenvolvimentos ou um silêncio sinistro por parte das autoridades; mas a verdade é que a história vai ficar por ali - na introdução quase se percebe um tom de lamento na voz do apresentador. Lá estão o piloto, o tipo magro com o cabelo preto puxado para trás, e o co-piloto rechonchudo à porta de um hotel perto de Heathrow. O piloto explica, com a ajuda de um intérprete, que não são chechenos nem argelinos, nem muçulmanos; são cristãos, mas só de nome, porque nunca vão à igreja, nem têm nenhum Corão nem nenhuma Bíblia. Acima de tudo, são russos e têm muito orgulho nisso. Não têm nada a ver com a pornografia com crianças americanas encontrada, meio destruída, entre a carga queimada. Trabalham para uma empresa respeitável com sede na Holanda e as suas únicas responsabilidades são para com o avião que pilotavam. E, pois claro, a pornografia infantil é uma coisa abominável, mas não lhes compete inspeccionar toda a carga que vem na listagem que lhes é fornecida. Foram libertados sem qualquer acusação e, assim que as autoridades responsáveis pela aviação civil lhes derem autorização, tencionam voltar para Riga. Também foi posto um ponto final na controvérsia sobre a rota do avião em direcção ao aeroporto; foram observados os procedimentos adequados. Os dois homens insistem que foram bem tratados pela Polícia Metropolitana. O co-piloto diz que lhe apetece tomar banho e beber um copo. São boas notícias, mas ao sair da cozinha em direcção à despensa Henry não se sente particularmente satisfeito, nem sequer aliviado. Será que as suas ansiedades o levaram a fazer figura de tolo? Esta limitação da liberdade mental, do direito a divagar, faz parte da nova ordem das coisas. Há não muito tempo, os seus pensamentos vagueavam de uma forma mais imprevisível por um vasto leque de temas. Desconfia que está a tornar-se um joguete, um consumidor espontâneo e febril de notícias, opiniões, especulações e de todas as partículas de informação que as autoridades deixam escapar. É um cidadão dócil, que está a ver o Leviatã agigantar-se e se esconde sob a sua sombra para se proteger. Aquele avião russo caiu precisamente dentro da sua insónia, e ele deixou que a notícia e todas as alterações nervosas que ela foi tendo ao longo do dia afectassem o seu estado emocional. É uma ilusão acreditar que ele próprio tem um papel activo na história. Será que pensa que está a fazer algum contributo quando está a ver noticiários ou deitado de costas no sofá aos domingos à tarde a ler mais colunas de opinião cheias de certezas não fundamentadas, ou longos artigos sobre o que está realmente por detrás disto ou daquilo, ou sobre o que irá certamente acontecer a seguir, previsões esquecidas assim que acabam de ser lidas, muito antes de os acontecimentos as negarem? Contra ou a favor da guerra contra o terrorismo ou da guerra do Iraque, a favor da deposição de um tirano odioso e da sua família criminosa, a favor de mais uma inspecção às armas, da abertura das prisões onde os presos são torturados, da localização das valas comuns, da esperança de liberdade e prosperidade e do aviso a outros déspotas ou contra o bombardeamento de alvos civis, o aparecimento inevitável de refugiados e da fome, as acções internacionais ilegais, a ira dos países árabes e o engrossar das fileiras da Al-Qaeda. Seja como for, tudo vai dar a uma espécie de consenso, uma ortodoxia atenta, uma certa subjugação. Será que pensa que a sua ambivalência - se é disso que se trata - o desculpa do conformismo geral? Sente-se mais envolvido pela situação do que a maioria das pessoas. Os seus nervos, como cordas retesadas, vibram obedientemente sempre que há uma nova «actualização» da informação. Perdeu os hábitos inerentes ao cepticismo, está a tornar-se sombrio por causa das opiniões contraditórias, não está a pensar com clareza, e quase tão grave como isso é o facto de achar que não está a pensar com independência.
A imagem seguinte mostra os pilotos a entrarem para o hotel, e será essa a última vez que os vê. Vai à despensa buscar algumas garrafas de água tónica, vê se há cubos de gelo e se o gim chega - sete decilitros e meio chegam de certeza para um homem - e acende o lume do caldo. No andar de cima, o rés-do-chão, corre os cortinados da sala em L, acende a luz e liga o gás nos aquecedores a imitar lenha a arder. Aqueles cortinados pesados, que se fecham puxando um cordão esticado por uma pesada bola de latão, têm a particularidade de eliminar completamente a praça e o mundo ventoso que está para lá dela. A sala, com o tecto alto e decorada em tons de creme e castanho, está em silêncio e tem um efeito tranquilizador. A única cor viva que nela existe é o azul e o vermelho das carpetes e uma mancha abstracta cor-de-laranja e amarela sobre um fundo verde num quadro de Howard Hodgkin pendurado numa das saliências da lareira. As três pessoas que há no mundo que ele, Henry Perowne, mais ama e que mais o amam estão prestes a chegar a casa. Então que se passa com ele? Nada, rigorosamente nada. Está bom, e tudo está bem. Pára ao fundo das escadas, a tentar lembrar-se do que ia fazer a seguir. Vai ao seu escritório no primeiro andar e fica parado a olhar para o ecrã do seu monitor para recordar o que a próxima semana lhe trará. Na lista de segunda-feira há quatro nomes, cinco na de terça. Viola, a astrónoma idosa, será a primeira, às oito e meia. Jay tem razão, é possível que ela não se safe. Todos os nomes evocam uma história que ele ficou a conhecer bem ao longo das últimas semanas ou meses.
Sabe exactamente o que tenciona fazer em cada um dos casos, e a perspectiva do trabalho dá-lhe prazer, exactamente ao contrário do que estarão a sentir as nove pessoas, algumas já internadas, outras em casa, outras em viagem para Londres no dia seguinte ou na segunda-feira, angustiadas pelo momento que se aproxima, pelo esquecimento em que a anestesia as fará mergulhar e pela sua suspeita, perfeitamente razoável, de que depois de acordarem nunca mais voltarão a ser como eram.
Ouve a fechadura da porta da frente a rodar no andar de baixo e pelo som da porta a abrir-se e a fechar-se - um estilo parcimonioso de entrar num lugar e de fechar cuidadosamente a porta atrás de si - sabe que é Daisy. Que sorte ela chegar antes do avô. Corre escada abaixo em direcção a ela, e ela faz uma espécie de pequena dança de alegria.
- Estás cá!
Abraçam-se e Henry suspira levemente, com um som rouco, como costumava fazer para a cumprimentar quando ela era pequenina. E é esse corpo de criança que sente quando quase a levanta no ar, a macieza dos músculos por baixo da roupa, a flexibilidade das suas articulações, os seus beijos assexuados. Até o hálito dela faz lembrar o de uma criança. Não fuma, quase nunca bebe e está prestes a ter um livro de poesia publicado. O seu hálito, pelo contrário, tem um cheiro intenso a vinho tinto. É pai de dois filhos maravilhosos e abstémios.
- Deixa-me olhar bem para ti.
Nunca esteve longe da família tanto tempo como aqueles seis meses. Os Perowne, embora bastante permissivos, são também pais possessivos. Quem lhe dera que no amplo abraço que lhe dá ela não note o brilho dos seus olhos e o nó na garganta. O seu momento de pathos sobe e desce numa única vaga suave que depressa se desfaz. Está apenas a ensaiar para ser um velho pateta; é um mero principiante. Apesar das suas fantasias, ela já não é uma criança. É uma jovem adulta independente, que olha para ele
com a cabeça inclinada - é tal e qual a avó quando faz aquele olhar -, com um sorriso nos lábios que se mantêm unidos, com a inteligência espelhada no rosto como uma espécie de calor. Há um sentimento misto de prazer e dor em ter filhos que se tornaram adultos há pouco tempo; são inocentes e impiedosos na forma como esquecem a sua antiga e doce dependência. Mas talvez ela esteja a lembrá-lo disso, pois durante o seu abraço fez aquele seu gesto maternal de o acariciar e ao mesmo tempo dar umas palmadinhas nas costas. Mesmo quando tinha cinco anos já gostava de o tratar como se fosse mãe dele e de ralhar com ele quando trabalhava até tarde, quando bebia vinho ou quando não ganhava a maratona de Londres. Era uma daquelas meninas mandonas, de dedo espetado. O pai pertencia-lhe. Agora acaricia e dá palmadinhas nas costas de outros homens, pelo menos seis no ano passado, se My Saucy Bark e as suas «Six Short Songs» lhe servirem de guia. É a existência estimulante desses homens que o ajuda a controlar a sua lágrima - apenas uma.
Daisy traz um trenchcoat de cabedal verde-escuro desapertado. Na sua mão direita balança um chapéu russo de pele. Por baixo do casaco, umas botas de cabedal cinzentas até ao joelho, uma saia de lã cinzento-escura, uma camisola grossa e larga e uma écharpe de seda cinzenta e branca. O chique parisiense não se estende à sua bagagem- junto dos seus pés está a sua velha mochila de estudante. Henry continua a agarrá-la pelos ombros, como a tentar pôr no lugar o que mudou naqueles seis meses. Um perfume não familiar, talvez um pouco mais gorda, um pouco mais de sensatez à volta dos olhos, o seu rosto delicado com uma expressão mais firme. Agora a maior parte da vida dela é um mistério para ele. Às vezes pergunta a si mesmo se Rosalind saberá coisas da sua filha que ele não sabe.
A intensa observação do pai faz que a pressão do sorriso dela aumente até se transformar numa gargalhada.
- Vá lá, doutor. Pode ser honesto comigo. Estou uma mulher feia e velha.
- Estás linda e crescida de mais para o meu gosto.
- Enquanto cá estiver, vou de certeza regredir. - Aponta para a sala e pergunta - O avô está cá?
- Ainda não.
Liberta-se, cruza os braços à volta dos ombros dele e dá-lhe um beijo no nariz. ,. - Adoro-te e estou muito feliz por estar cá.
- Também te adoro.
Há algo mais que mudou. Ela já não é apenas bonita, é linda, e os seus olhos parecem dizer-lhe que está também um pouco preocupada. Está apaixonada e não suporta a separação. Henry afasta esse pensamento. Seja o que for, é mais provável que conte primeiro a Rosalind.
Por alguns segundos entram num daqueles momentos mudos e vazios que se seguem a um reencontro entusiástico - há demasiadas coisas a dizer e é necessário um ligeiro restabelecimento, o regresso ao habitual. Daisy olha à sua volta enquanto despe o casaco. Esse movimento volta a libertar aquele perfume desconhecido. Uma prenda do seu amante. Terá de fazer um esforço mais forte para se libertar daquela terrível fixação. Ela terá necessariamente de amar outro homem para além dele. Seria mais fácil para ele se os seus poemas não fossem tão sensuais - não é só o sexo que eles glorificam, mas também a novidade inquieta, os quartos e camas habitados uma vez e abandonados ao nascer do dia, o caminho para casa pelas ruas parisienses molhadas, cuja limpeza eficiente pelas entidades responsáveis pela cidade propicia diversas metáforas. No seu poema sobre a lavandaria que ganhou o Newdigate estava presente a mesma purificação de um novo começo. Perowne conhece os velhos argumentos sobre duplos padrões, mas não há mulheres liberais que defendem agora o poder e o valor da reticência? Será apenas uma certa caturrice de pai que o faz desconfiar que uma rapariga que dorme com vários homens tem mais probabilidades de acabar com um homem que não preste, com um falhado? Ou será a sua própria singularidade neste campo, a sua falta de vigor para novas experiências que está a originar outro problema de referência?
- Meu Deus, já não me lembrava de como esta casa é grande.
Daisy está a espreitar por entre o corrimão para o lustre pendurado lá longe, no tecto do segundo andar. Sem pensar, Henry pega no casaco dela, ri-se e volta a dar-lho.
- Que estou eu a fazer? - exclama - Tu moras cá. Podes ser tu a pendurá-lo.
Segue-o até à cozinha e, quando ele se volta para lhe oferecer uma bebida, ela torna a abraçá-lo e depois afasta-se com um pequeno salto encenado e entra na casa de jantar e depois vai até à estufa.
- Adoro estar aqui - grita em direcção a ele. - Olha para esta árvore tropical. Adoro-a. Onde é que eu tinha a cabeça para estar fora tanto tempo?
- É exactamente essa a minha dúvida.
A árvore está ali há nove anos. Henry nunca a viu com aquele estado de espírito. Está de novo a dirigir-se para ele, de braços estendidos como se estivesse a fazer equilíbrio no arame, fingindo que hesita - o tipo de coisa que uma personagem de uma série americana faria se tivesse uma notícia importante para dar. A seguir vai fazer piruetas à volta dele e trautear canções famosas. Henry tira dois copos de um armário e uma garrafa de champanhe do frigorífico e roda a rolha.
- Toma - diz. - Não há razão para esperarmos pelos outros.
- Adoro-te - repete Daisy, erguendo o copo.
- Bem-vinda a casa, minha querida.
Ela bebe e ele repara com algum alívio que não o faz avidamente. É apenas um pequeno golo - quanto a isso, tudo na mesma. Continua a observá-la, tentando perceber o que mudou.
Não consegue estar parada. Anda de copo na mão à volta da bancada central.
- Adivinha onde fui quando vinha da estação - diz-lhe Daisy, regressando para junto dele.
- Hum. A Hyde Park?
- Tu sabias! Porque é que não foste lá? Foi simplesmente espantoso.
- Não sei. Fui jogar squash, visitar a avó, estive a fazer o jantar, não tinha a certeza. Foi isso tudo.
- Mas é bárbaro o que se preparam para fazer. Toda a gente sabe isso.
- Talvez. Mas não fazer nada também pode ser. Honestamente não sei. Conta-me como é que foi no parque.
- Tenho a certeza que se tivesses lá estado não terias dúvidas nenhumas.
- Vi a manifestação a arrancar hoje de manhã - diz Henry, querendo mostrar-se solícito. - Estava toda a gente muito bem disposta.
Ela faz uma careta, como se estivesse com uma dor. Está finalmente em casa, estão a tomar o seu champanhe, e não suporta que ele não veja as coisas ao modo dela. Pousa a mão sobre o braço dele. Ao contrário da do pai ou da do irmão, é uma mão delicada, com dedos esguios, cada um com um resquício de uma covinha infantil na base. Enquanto ela está a falar, Henry olha para as suas unhas e fica satisfeito pelo bom estado em que se encontram. Longas, macias, limpas, brilhantes, não pintadas. As unhas de uma pessoa dizem muito sobre ela. Quando uma vida começa a correr mal, são das primeiras coisas a ruir. Pega-lhe na mão e aperta-a.
Ela fala com ele num tom de súplica. A sua cabeça está tão cheia como a dele em relação àquele assunto. O discurso que faz é uma mistura de tudo o que ouviu no parque, de tudo o que ambos ouviram e leram centenas de vezes, das piores hipóteses que se imaginaram que se tornaram factos à força de serem repetidas, do doce arrebatamento do pessimismo.
Henry ouve mais uma vez as previsões das Nações Unidas - quinhentos mil iraquianos mortos por causa da fome e dos bombardeamentos, três milhões de refugiados -, o fim das Nações Unidas, o colapso da ordem mundial se a América avançar sozinha, a cidade de Bagdade inteiramente destruída ao ser ocupada rua a rua pela Guarda Republicana, os Turcos a invadirem o país pelo Norte, os Iranianos pelo Leste, os Israelitas a fazerem incursões a oeste, toda a região em chamas, Saddam acossado no seu reduto a lançar as suas armas químicas e biológicas - se é que as tem, porque ainda ninguém o provou de forma convincente, tal como não se provaram as suas ligações à Al-Qaeda, além de que, quando os Americanos invadirem o país, a sua preocupação não será a democracia, não vão querer gastar um tostão com o Iraque, mas apenas tirar de lá o petróleo, construir bases militares e dirigir o país como uma colónia sua.
Enquanto Daisy fala, Henry olha para ela com ternura e alguma surpresa. Estão prestes a ter uma das suas discussões - tão cedo. Ela não costuma falar de política, não é um dos seus temas preferidos. Será esta a origem da sua agitação e felicidade? As cores vão-lhe subindo ao rosto desde o pescoço, e cada uma das razões que apresenta contra a guerra tem mais peso do que a anterior e aproxima-a mais do triunfo. As consequências negras que acredita que surgirão estão a deixá-la eufórica; cada vez que fala parece querer desferir um golpe num dragão. Quando acaba de falar dá-lhe um pequeno empurrão afectuoso no braço, como para o acordar. Depois compõe uma expressão de falso arrependimento. Está ansiosa por que ele veja a verdade.
Consciente de que está a assumir uma posição e preparando-se para o combate, Henry diz:
- Mas isso são tudo especulações em relação ao futuro. Porque hei-de ter alguma certeza em relação a isso? E se for uma guerra rápida, se as Nações Unidas não se desintegrarem, se não houver fome, nem refugiados, nem invasões por
parte dos países vizinhos, se Bagdade não ficar arrasada e se houver menos mortes do que as que em média Saddam inflige ao seu povo todos os anos? E se os Americanos tentarem organizar uma democracia, se investirem milhões de dólares e se vierem embora porque o presidente quer ser reeleito no próximo ano? Acho que continuarias a ser contra a guerra e ainda não me disseste porquê.
Ela afasta-se dele e olha-o com uma expressão de ansiedade e surpresa.
- Papá, não és a favor da guerra, pois não? Henry encolhe os ombros.
- Nenhuma pessoa racional é a favor da guerra. Mas é possível que daqui a cinco anos não nos arrependamos dela. Adorava ver Saddam ser deposto. Tens razão, pode ser um desastre. Mas também pode ser o fim de um desastre e o princípio de algo melhor. Tem tudo a ver com as consequências, e ainda ninguém sabe quais serão. É por isso que não me imagino a desfilar pelas ruas.
A surpresa dela transformou-se em desagrado. Ele levanta a garrafa e prepara-se para lhe encher o copo, mas ela abana a cabeça, pousa o copo e afasta-se mais do pai. Não bebe com o inimigo.
- Odeias o Saddam, mas ele é uma criação dos Americanos. Apoiaram-no e armaram-no.
- Pois foi. Os Americanos, os Franceses, os Russos e os Ingleses. Foi um grande erro. Os Iraquianos foram traídos, sobretudo em 1991, quando foram encorajados a sublevar-se contra os membros do partido Baas, que os aniquilaram. Esta guerra pode ser uma oportunidade de corrigir essa situação.
- Então és a favor da guerra?
- Já disse que nunca sou a favor da guerra. Mas esta pode ser um mal menor. Daqui a cinco anos saberemos.
- Essa posição é tão típica...
- De quê? - pergunta, com um sorriso contrafeito.
- Tão típica em ti.
Não é propriamente o reencontro que tinha imaginado e, como por vezes acontece, a sua discussão está a tornar-se pessoal. Já não está habituado a elas, perdeu o jeito. Sente um aperto no coração. Ou será a ferida no esterno? Já vai quase no fim da segunda taça de champanhe e ela quase não tocou na primeira. O seu impulso para dançar desapareceu. Encosta-se à ombreira da porta, de braços cruzados, com a sua pequena cara de duende contraída de raiva. Reage quando o vê erguer as sobrancelhas.
- Estás a dizer que devemos deixar a guerra acontecer e, daqui a cinco anos, se resultar, tu és a favor e, se não correr bem, não és responsável por isso. És uma pessoa culta que vive naquilo a que gostamos de chamar uma democracia adulta, e o nosso governo está a empurrar-nos para a guerra. Se achas que é boa ideia, tudo bem, diz isso, apresenta os teus argumentos e não adies a tua posição. Os soldados já começaram a partir ou ainda não? É agora que está a acontecer. Tentar adivinhar o futuro é aquilo que se faz muitas vezes quando se tem de fazer uma escolha moral. Chama-se pensar nas consequências. Sou contra a guerra porque acho que vão acontecer coisas terríveis. Tu achas que vai ter resultados bons, mas não defendes aquilo em que acreditas.
Ele pensa e acaba por dizer:
- É verdade. Acho sinceramente que pode correr mal. Esta admissão, e o tom pouco convicto em que é feita,
deixam-na ainda mais furiosa.
- Então porquê arriscar? Que é feito das precauções que aconselhas sempre? Se queres mandar centenas de milhares de soldados para o Médio Oriente, é melhor saberes o que eles vão lá fazer. E aqueles loucos gananciosos que ocupam a Casa Branca não sabem o que estão a fazer, não fazem a mínima ideia de para onde querem levar-nos, e não consigo acreditar que estejas do lado deles.
Perowne pensa se não estarão a falar de coisas diferentes. Aquele «tão típico» dela continua a incomodá-lo.
Talvez os meses que passou em Paris lhe tenham dado tempo para descobrir novas perspectivas sobre o pai das quais não goste. Afasta esse pensamento. É bom, é saudável terem uma das suas velhas discussões, e retomar a vida familiar. E o que se passa no mundo é importante. Senta-se num dos bancos encostados à bancada central e faz sinal a Daisy de que faça o mesmo. Ela ignora-o e mantém-se junto da porta, de braços ainda cruzados e rosto fechado. O facto de ele estar cada vez mais calmo enquanto ela fica cada vez mais agitada também não ajuda nada, mas é um hábito dele, que a sua profissão tem tornado cada vez mais firme.
- Olha, Daisy, se eu mandasse, esses soldados não estariam na fronteira do Iraque. Não é a melhor altura para o Ocidente entrar em guerra com um país árabe. Além disso, não há qualquer plano à vista para a questão palestiniana. Mas a guerra vai acontecer, com ou sem as Nações Unidas, independentemente do que os governos disserem ou das manifestações que se fizerem. A invasão vai-se dar, e as forças militares vão triunfar de certeza absoluta. Será o fim de Saddam e de um dos regimes mais odiosos que alguma vez existiram, e eu ficarei contente com isso.
- Ou seja, os Iraquianos têm de levar com o Saddam e agora com os mísseis americanos, mas está tudo bem, porque tu vais ficar contente.
Henry não reconhece aquela amargura retórica, nem a aspereza da sua garganta.
- Espera aí - diz, mas ela não o ouve.
- Achas que vamos ficar mais seguros depois disto tudo? Vamos ser odiados por todo o mundo árabe. Todos aqueles jovens sem nada para fazer vão fazer bicha para serem terroristas...
- É demasiado tarde para nos preocuparmos com isso - interrompe-a. - Cem mil já passaram pelos campos de treino afegãos. Pelo menos deves estar satisfeita por isso ter acabado.
Depois de dizer isto lembra-se de que, de facto, Daisy ficou satisfeita, que odiava os tristes talibãs, e pergunta a si próprio porque está a interrompê-la, a discutir com ela, em vez de tentar descobrir e perceber a posição dela de uma forma afectuosa. Porquê pôr-se na pele do adversário? Porque ele próprio está muito confuso, se sente enraivecido, apesar do tom calmo com que tem falado. O medo e a raiva estão a dominar os seus pensamentos e a fomentar o desejo de ter uma discussão. Vamos lá deitar tudo cá para fora! Estão a discutir sobre exércitos que jamais verão e sobre os quais nada sabem.
- Vai haver mais ataques - diz Daisy. - E quando houver a primeira explosão em Londres as tuas opiniões a favor da guerra...
- Se dizes que a minha posição é a favor da guerra, tens de aceitar que a tua é de facto a favor de Saddam.
- Que merda de conclusão!
Ao ouvir aquela linguagem, Henry sente uma súbita tensão, em parte por a sua conversa estar a ficar fora de controlo, mas também por uma alegria imprudente, por poder libertar-se da melancolia que o tem afectado ao longo de todo o dia. O rosto de Daisy perde a cor e as poucas sardas que tem nas maçãs do rosto ganham uma súbita visibilidade sob as luzes discretas da cozinha. O seu rosto, que normalmente mantém uma ligeira expressão de troça durante as conversas, está hoje a confrontá-lo com um olhar feroz e ultrajado.
Apesar desse sobressalto, Henry mostra-se calmo ao beber mais um pouco de champanhe e ao acrescentar:
- O que eu queria dizer era isto: para afastar Saddam é preciso avançar para a guerra; não avançar para a guerra significa deixá-lo continuar onde está.
Era sua intenção que esta frase fosse de conciliação, mas não foi assim que Daisy a entendeu.
- É feio e cruel as pessoas que são a favor da guerra dizerem que nós somos a favor de Saddam.
- Bem, vocês estão dispostos a fazer aquilo que ele mais gostaria que fizessem, que é deixá-lo no poder.
Mas isso só vai adiar o confronto. Um dia vai ser preciso acabar com ele e com os seus horríveis filhos. Até Clinton percebeu isso.
- Estás a dizer que vamos invadir o Iraque porque não temos alternativa. Estou espantada com as asneiras que estás a dizer, pai. Sabes perfeitamente que a América está nas mãos dos extremistas, dos neoconservadores. Cheney, Rumsfeld, Wolfovitz. O Iraque sempre foi um plano acalentado por eles. O onze de Setembro foi a sua grande oportunidade de darem a volta a Bush. Repara na política externa dele até essa altura. Era um ratinho imberbe que nunca saía de casa. Mas não há nada que ligue o Iraque ao onze de Setembro nem à Al-Qaeda em geral, nem a menor prova de que existam armas de destruição em massa. Não ouviste o que o Blix disse ontem? E nunca te passou pela cabeça que atacar o Iraque é fazer exactamente o que os que bombardearam Nova Iorque queriam que fizéssemos - reagir, fazer mais inimigos no mundo árabe e radicalizar o Islão. E não é só isso. Também estamos a fazer-lhes o favor de correr com o velho inimigo deles, o ímpio tirano estalinista.
- Por essa ordem de ideias, deviam querer que destruíssemos os campos de treino, e corrêssemos com os talibãs do Afeganistão, e obrigássemos o Bin Laden a fugir, e destruíssemos as suas redes financeiras, e metêssemos na prisão centenas de cabecilhas...
Ela interrompe, já a falar muito alto.
- Pára de distorcer as minhas palavras. Ninguém está contra perseguir a Al-Qaeda. Estamos a falar do Iraque. Porque será que as poucas pessoas que conheci que não são contra esta guerra nojenta têm todas bastante mais de quarenta anos? Devem ter algum problema com ser velhos. Se calhar não estão a aproximar-se da morte suficientemente depressa.
Henry sente uma súbita tristeza e um desejo de pôr fim àquela discussão. Preferia as coisas como estavam há dez minutos, quando ela disse que o adorava. Ainda não lhe mostrou as provas de My Saucy Bark nem a ilustração da capa. Mas não consegue obrigar-se a parar.
- A morte está sempre presente - concorda. - Pergunta aos carrascos a mando de Saddam que estão na prisão de Abu Ghraib e aos vinte mil prisioneiros. E deixa-me perguntar-te uma coisa. Porque será que entre aqueles dois milhões de idealistas que se juntaram hoje não vi uma única faixa, um punho ou uma voz a erguer-se contra Saddam.
- Ele é repugnante - diz Daisy. - Isso é um facto.
- Não, não é. É um facto, mas esquecido. Então porque é que estiveram todos a dançar e a cantar no parque? O genocídio e a tortura, as valas comuns, o aparelho de segurança, o estado totalitário criminoso... Disso a geração iPod não quer saber. Não querem que nada se interponha entre eles e as suas festas cheias de ecstasy, a sua alienação barata, os reality shows. Mas, se não fizermos nada, isso acabará por acontecer. Acham que são todos muito queridos, muito engraçados, muito inocentes, mas os nazis religiosos odeiam-vos. Qual é que achas que foi o objectivo da explosão em Bali? Foi lixar a festa. Os radicais islâmicos odeiam a vossa liberdade.
Ela finge ter sido apanhada de surpresa.
- Lamento muito que sejas tão sensível em relação à época em que vives, papá. Mas Bali foi obra da Al-Qaeda, e não de Saddam. Nada do que disseste até agora justifica que se invada o Iraque.
Perowne já vai quase no fim da terceira taça de champanhe. Um grande erro. Não está habituado a beber. Mas conseguiu ficar muito feliz por um método errado.
- Não é apenas o Iraque. Estou a falar da Síria, do Irão, da Arábia Saudita, uma grande extensão territorial de repressão, corrupção e miséria. Estás prestes a ter um livro publicado. Porque é que não te preocupas um pouco com a censura, com os teus congéneres que estão nas prisões árabes, precisamente no sítio onde a escrita foi inventada?
Ou será que a liberdade e a inexistência de tortura nas prisões devem ser um privilégio ocidental, que não devemos impor aos outros?
- Por amor de Deus, não venhas outra vez com essas tretas relativistas. E estás sempre a desviar-te da questão central. Ninguém quer que os escritores árabes vão para a prisão. Mas invadir o Iraque não vai tirá-los de lá.
- Talvez. Estamos perante uma oportunidade de mudar um país. De plantar uma semente. De ver se ela dá flor e se espalha.
- Não se plantam sementes com mísseis de cruzeiro. O povo vai odiar os invasores. Os extremistas religiosos vão ficar mais fortes. Vai haver menos liberdade e mais escritores na prisão.
- Aposto cinquenta libras em como, três meses depois da invasão, haverá liberdade de imprensa no Iraque e acesso livre à Internet. Os reformistas do Irão vão sentir-se encorajados e os potentados da Síria, da Arábia Saudita e da Líbia vão sentir-se ameaçados.
- Muito bem - diz Daisy. - E eu aposto cinquenta libras em como vai haver uma tremenda confusão e até tu vais desejar que nada daquilo tivesse acontecido.
Quando ela era adolescente fizeram várias apostas depois de discutirem e selaram-nas sempre com um aperto de mão pretensamente formal. Perowne descobria sempre uma maneira de pagar, mesmo quando ganhava - era um subsídio disfarçado. Quando, uma vez, um exame lhe correu mal, Daisy, na altura com dezassete anos, apostou vinte libras em como nunca conseguiria entrar para Oxford. Para a animar, ele apostou quinhentas libras e, quando receberam a informação de que ela tinha entrado, Daisy foi a Florença com uma amiga com o dinheiro da aposta. Será que ela agora está com disposição para apertos de mão?
Daisy afasta-se da porta, pega na taça de champanhe e vai até ao outro lado da cozinha. Mostra-se interessada nos CD de Theo que estão ao pé da aparelhagem.
Tem as costas firmemente voltadas contra o pai, que continua sentado no banco alto junto da bancada central, a brincar com o copo, mas já sem beber. Tem uma sensação de vazio, de ter discutido apenas metade do que tinha para discutir. Foi um santo com Jay e um malvado com a filha. Que sentido tem isso? E como é confortável resolver em casa, na cozinha, as questões geopolíticas e militares e não assumir a responsabilidade perante os eleitores, os jornais, os amigos e a história. Quando não há consequências, estar errado é apenas uma diversão interessante.
Ela tira um CD da caixa e põe-no no leitor. Henry fica à espera, sabendo que ele lhe dará uma pista relativamente ao estado de espírito dela, ou até uma mensagem. Quando ouve a introdução do piano, sorri. É um disco que Theo comprou há anos, de Johnnie Johnson, antigo pianista de Chuck Berry, a cantar Tanqueray, um blues lento que fala de reencontro e amizade.
It was a long time comin', But I knew I would see the day When you and I could sit down, And have a drink of Tanqueray.
Daisy volta-se e dirige-se para ele com pequenos passos de dança. Quando chega ao pé dele, ele pega-lhe na mão.
- Pelo cheiro, parece que o defensor da guerra fez uma das suas sopas de peixe. Queres ajuda?
- A jovem pacifista pode pôr a mesa. E, se quiseres, temperar a salada.
Quando se dirige para o armário da loiça ouvem dois toques muito longos e incertos da campainha. Olham um para o outro: aquela persistência não é nada promissora.
- Antes de fazeres isso, parte um limão. O gim está ali e a água tónica está no frigorífico - pede-lhe o pai.
Diverte-se com a forma teatral como ela faz girar os olhos e com o seu longo suspiro.
- Agora é que vai ser.
- Mantém a calma - é o conselho que ele lhe dá antes de subir a escada para ir abrir a porta ao sogro, o eminente poeta.
Pelo facto de ter crescido nos arredores de uma grande cidade, numa solidão aconchegada, partilhada com a mãe, Henry Perowne nunca sentiu falta de um pai. Nas casas em redor da sua, sobre as quais pesavam pesadas hipotecas, os pais eram sempre figuras distantes, esgotadas pelo trabalho e com pouco interesse. Para qualquer criança, a vida doméstica de Perivale em meados dos anos sessenta era dirigida unicamente pelas mães, todas elas donas de casa; quando ia a casa de um amigo ao fim-de-semana ou nas férias, era no domínio da mãe que entrava e era pelas regras dela que temporariamente era obrigado a reger-se. Eram elas que davam ou não davam autorização, ou que davam uns trocos aos filhos. Henry não tinha qualquer motivo para ter inveja dos amigos por terem pai - quando os pais não estavam ausentes, eram pessoas irascíveis, que impediam, em vez de permitirem o acesso aos elementos melhores e mais arriscados da vida. Durante a adolescência, quando examinava as poucas fotografias que existiam do seu pai, fazia-o menos por desejo que por narcisismo - esperava descobrir naquelas feições fortes, livres de acne, uma promessa para as suas hipóteses futuras com as raparigas. Queria o rosto, mas não queria os conselhos, as recusas, nem as opiniões. Talvez fosse inevitável que considerasse um sogro uma imposição, mesmo que lhe calhasse um menos imponente que John Grammaticus.
Desde o seu primeiro encontro, em 1982, quando chegou ao castelo poucas horas depois de ter consumado o seu amor por Rosalind no andar de baixo de um beliche do ferry para Bilbau, que Perowne nunca quis ser tratado com condescendência nem como um futuro filho.
Era um adulto com competências que não ficavam atrás das de um poeta. Rosalind dera-lhe a conhecer «Monte Fuji», o poema de Grammaticus incluído em muitas antologias, mas Henry não lia poesia e disse-o sem qualquer laivo de vergonha durante o jantar da primeira noite. Nessa altura John já tinha escrito uma boa parte do seu «Sem Exéquias»
- durante aquele que acabaria por ser o seu último período longo de criatividade - e não ficou nada intrigado por um médico ainda novo não ler nos seus tempos livres. Aparentemente, também não se importou, nem sequer reparou, mais tarde, quando o uísque já estava na mesa, que esse mesmo médico discordava dele em matéria de política - Grammaticus fora sempre um admirador de Mrs. Thatcher -, de música - o bebop tinha traído o jazz -, ou quanto à verdadeira natureza dos franceses - todos uns mercenários.
Na manhã seguinte, Rosalind disse-lhe que se tinha esforçado demasiado por chamar a atenção do seu pai, exactamente o contrário do que ele quisera fazer, o que o deixou muito irritado. Mas, apesar de ter deixado de discutir com ele, nada mudara muito entre eles desde essa primeira noite, nem mesmo depois do casamento, depois do nascimento dos filhos, nem de terem passado mais de duas décadas. Perowne mantém as distâncias e Grammaticus parece dar-se bem com isso e só tem olhos para a filha e para os netos, ignorando o genro. São superficialmente simpáticos, mas no fundo não têm paciência um para o outro. Perowne não percebe como é que a poesia
- ao que parece, um trabalho ocasional, como a vindima - pode ocupar uma vida inteira de trabalho, nem como é que tanta fama e amor-próprio podem assentar em tão pouca coisa, nem porque se há-de pensar que um poeta bêbedo é diferente de qualquer outro bêbedo; ao passo que Grammaticus - segundo Perowne imagina - deve achá-lo mais um comerciante, um médico chato e inculto, ainda por cima pertencente a uma classe em que ele cada vez acredita menos à medida que a idade o vai tornando cada vez mais dependente dela.
Há uma outra questão que naturalmente nunca é discutida. A casa da praça, tal como o castelo, foram deixados à mãe de Rosalind, Marianne, pelos seus pais. Quando ela casou com Grammaticus, a casa de Londres passou a ser a casa de família, onde Rosalind e o irmão cresceram. Quando Marianne morreu no desastre de viação, o seu testamento era claro: a casa de Londres era para os filhos e a de St. Felix para John. Quatro anos depois de se casarem, Rosalind e Henry, que moravam num pequeno apartamento em Archway, pediram um empréstimo para comprarem a parte do irmão de Rosalind, que queria comprar um apartamento em Nova Iorque. O dia em que os Perowne se mudaram com os seus dois filhos, ainda pequenos, para aquela casa tão grande, foi de grande alegria. Todas aquelas transacções foram feitas de bom grado. Mas, nas suas visitas a Londres, Grammaticus tende a agir como se regressasse a casa, como se fosse um proprietário ausente que vem cumprimentar os inquilinos e reafirmar os seus direitos. Talvez seja Henry que é muito sensível e não tem disponibilidade para uma figura paterna. Seja como for, a verdade é que fica aborrecido; já que tem de ver o sogro, prefere que seja em França.
Ao dirigir-se para a porta da frente, Perowne lembra-se, contra aquilo a que o champanhe o incita, de que deve disfarçar os seus sentimentos; o objectivo daquela noite é reconciliar Daisy com o avô, três anos depois daquilo a que Theo chamou o «percalço de Newdigate», em honra a vários autores de livros policiais. Daisy vai querer mostrar-lhe as provas, e o avô vai, com toda a legitimidade, reclamar o seu papel no sucesso dela. Abre a porta com este pensamento benigno e dá com Grammaticus a vários metros de distância, no meio da rua, com um longo casaco de lã com um cinto, chapéu e bengala,
a cabeça inclinada para trás e o rosto de perfil iluminado pela luz fria e branca dos candeeiros da praça. O mais provável é que esteja a fazer uma pose para Daisy.
- Ah, Henry - o desapontamento está na inflexão descendente da voz -, estava a olhar para a torre...
Grammaticus mantém-se na mesma posição e por isso Perowne desce os degraus e vai ter com ele.
- Estava a tentar vê-la - continua - pelos olhos de Robert Adam, quando delineava a praça, e a perguntar a mim próprio o que pensaria ele dela. Que lhe parece?
A torre ergue-se acima dos plátanos no jardim central, por detrás da fachada reconstruída do lado sul. Sobre uma base de vidro há seis varandas circulares que suportam três discos gigantes e, por cima deles, um conjunto de três rodas ou mangas onde está instalada a geometria de luzes fluorescentes. À noite, o Mercúrio a dançar dá-lhe um toque gracioso. Quando era pequeno, Theo costumava perguntar se a torre chocaria com a casa se caísse e ficava sempre muito satisfeito quando o pai lhe dizia que sim. Como Perowne e Grammaticus ainda não se saudaram nem deram um simples aperto de mão, a sua conversa está desenraizada, como uma troca de opiniões numa chat-room.
Perowne, o amável anfitrião, entra no jogo.
- Devia ter uma opinião de engenheiro. Teria ficado espantado com todo aquele vidro, com aquela altura com uma base tão pequena. E também com a luz eléctrica. Tê-la-ia visto mais como uma máquina do que como uma construção.
Grammaticus indica que essa não é nem de longe a resposta.
- A verdade é que a única analogia que lhe poderia ter ocorrido em finais do século XVIII teria sido com um pináculo de uma catedral. Teria necessariamente de a ver como um qualquer tipo de construção religiosa. Senão, porque seria tão alta? Concluiria necessariamente que aqueles pratos eram ornamentais ou utilizados em rituais. Uma religião do futuro.
- Em qualquer dos casos, não estaria muito longe da verdade.
Grammaticus levanta a voz para a sobrepor à dele.
- Por amor de Deus, homem. Veja as proporções daqueles pilares, a escultura daqueles capitéis! - Acena com a bengala na direcção da fachada do lado leste da praça. - Há ali beleza, há ali conhecimento. Um mundo diferente. Uma consciência diferente. Adam teria ficado surpreendido com a fealdade daquela coisa. Não tem escala humana. É pesada de mais. Não tem graça, não tem calor. Teria enchido o coração dele de medo. Se é aquilo que vai ser a nossa religião, teria ele dito para si próprio, estamos completamente lixados.
A visão que têm dos pilares georgianos da fachada oriental inclui, mais à frente, duas pessoas sentadas num banco a uns trinta metros deles, com blusões de cabedal e gorros de lã. Estão de costas voltadas para eles e sentadas ao pé uma da outra, dobradas para a frente, o que leva Perowne a crer que está em curso uma transacção. Se não, porque estariam ali sentados numa noite tão fria de Fevereiro? É tomado por uma súbita impaciência; antes de Grammaticus começar a amaldiçoar a civilização que ambos partilham, ou a exultar com qualquer outra fora do alcance deles, diz-lhe:
- A Daisy está à sua espera. Está a preparar-lhe uma bebida forte. - Agarra o sogro pelo cotovelo e empurra-o suavemente em direcção à porta da frente, ampla e profusamente iluminada. John vai bem lançado na sua fase expansiva e relativamente benigna, que Daisy não deve perder. Nas fases posteriores, a reconciliação não será possível.
Pega no casaco, no chapéu e na bengala do sogro, acompanha-o até à sala de estar e vai chamar Daisy, que já vem a subir com um tabuleiro, com uma nova garrafa de champanhe e a antiga, o gim, o gelo, o limão, copos, também para Rosalind e Theo, e nozes na tigela pintada que trouxe de uma viagem ao Chile quando ainda andava a estudar. Lança-lhe um olhar de interrogação e ele faz uma cara alegre: vai correr tudo bem. Prevendo que ela e o avô queiram abraçar-se, pega no tabuleiro e entra na sala a seguir a ela. Mas Grammaticus, que está de pé no meio da sala, afasta-se com alguma formalidade, e Daisy retrai-se. Pode estar surpreendido com a beleza dela, tal como aconteceu a Henry, ou chocado com a sua familiaridade. Avançam um para o outro, murmurando ao mesmo tempo «Daisy...», «Avô...», dão um aperto de mão e depois, por força de um movimento dos seus corpos, que não conseguem reverter depois de se ter iniciado, dão um beijo acanhado na cara um do outro.
Henry pousa o tabuleiro e prepara um gim tónico.
- Aqui tem - diz. - Vamos fazer um brinde. À poesia.
Repara que a mão do sogro está a tremer quando agarra o copo. Erguendo os copos e murmurando ou resmungando sem repetirem as palavras que um simples endireita não tem o direito de proferir, Daisy e o avô bebem.
- É a cara da Marianne quando a conheci - diz-lhe Grammaticus.
Os seus olhos, repara Perowne, não estão húmidos, como os seus ficaram; apesar do arrebatamento e das variações de humor, há em Grammaticus algo de controlável e intocável, até uma certa dureza. Tem uma certa forma de flutuar, de se movimentar com grande pompa quando está com as pessoas, mesmo que lhe sejam muito próximas. Segundo Rosalind, foi já há muito tempo, por volta dos trinta anos, que desenvolveu aquela maneira de ser distante e soberba, de não se importar com o que as outras pessoas pensam.
- O avô está com um aspecto excelente - diz-lhe Daisy.
Grammaticus põe-lhe a mão no ombro.
- Tornei a lê-los todos hoje à tarde no hotel. São maravilhosos, Daisy. Não há ninguém como tu. - Torna a beber e cita com um cantarolar curioso:
My saucy bark, inferior far to bis
On your broad main doth bravely appear*1.
Os seus olhos cintilam e está a tentar provocá-la, como costuma fazer.
- Vá lá. Sê honesta. Há outro poeta com um talento do tamanho de um galeão?
Grammaticus está a tentar obter o tributo que acha que lhe é devido. Talvez um pouco cedo de mais. Está a ir muito depressa. É muito possível que Daisy tenha dedicado o livro ao avô, embora isso preocupe Perowne. Mais uma razão por que gostava de ver as provas.
Daisy está confusa. Vai para falar, muda de ideias e depois diz, com um sorriso forçado:
- Vai ter de esperar para ver.
- Claro, Shakespeare não achava que era um barco à vela numa competição no oceano. Estava apenas a tentar ser sardónico. Talvez tu também sejas, minha querida.
Daisy está hesitante, embaraçada, a debater-se com uma decisão. Esconde-se por detrás do seu copo erguido. Depois pousa-o na mesa e parece ter-se decidido.
- Não é «surge corajosamente», avô.
- Claro que é. Fui eu que te ensinei esse soneto.
- Eu sei que foi. Mas o verso não suporta «corajosamente». O que eu escrevi foi «surge teimosamente».
O brilho nos olhos de Grammaticus desaparece completamente. Lança à neta um olhar rígido, que lhe responde com o mesmo olhar feroz que o pai notou na cozinha. Falou como se tivesse sido alvo de uma deslealdade,
*1 Meu barco suculento, muito abaixo do dele,/Surge corajosamente no teu vasto mar. (N. da T.)
e mantém a sua posição. A palavra «suporta» traz a Henry a recordação desagradável de um facto relacionado com o seu trabalho, uma certa ansiedade, devido ao facto de a administração lhe ter respondido num memorando que o orçamento do seu serviço não suportava a despesa da compra de um aparelho de ressonância magnética mais potente, depois de esta lhe ter sido praticamente assegurada. Tinha feito o relatório a justificar a compra, tinha ido a todas as reuniões. Poderia ter feito mais alguma coisa? Talvez mandado um e-mail. Quanto àquilo que um verso suporta ou não, não vê qualquer melhoria em teimosamente em relação a corajosamente.
- Ora aí tens. Não suporta essa palavra. E o que tem isso? Então, Henry, como vão as coisas no hospital?
Em mais de vinte anos nunca lhe perguntou nada sobre o hospital e Henry não pode permitir que a filha seja assim afastada. Por outro lado, é espantoso como ao fim de três anos aqueles dois se zangam mal se reencontram.
Parece divertido ao dizer a Grammaticus, num tom ligeiro:
- A minha memória prega-me partidas muito piores que essa. - Depois volta-se para Daisy, que entretanto deu um passo para trás e parece procurar uma desculpa para sair da sala. Mas Henry quer que ela continue ali. - Explica-me uma coisa. Como é que um verso suporta «teimosamente» e não suporta «corajosamente»?
Daisy responde-lhe num tom bem disposto e aproveita para desarmar Grammaticus.
- Tem a ver com o número de sílabas, papá. Quis que o meu poema tivesse rima interpolada e com o mesmo número de sílabas nos versos que rimavam. E com a palavra «corajosamente» isso não era possível.
Enquanto ela fala, Grammaticus senta-se num dos sofás de pele com um gemido bem audível, que se sobrepõe às últimas palavras dela.
- Não batas mais no velhinho. «Não foi um sonho; Estava bem desperto.» Há muitos versos com métricas diferentes em Shakespeare, até nos sonetos. Garanto-te que o sacana escreveu «corajosamente».
- Isso é de Wyatt - murmura Daisy num tom inacessível aos ouvidos do avô.
Perowne olha para ela e, dissimuladamente, estica o dedo. Ela ganhou e de certeza que sabe que é melhor deixar que seja o avô a ter a última palavra. A menos que queira continuar a discutir até à hora de jantar ou ainda depois.
- Tem razão. Mais gim, avô? - Não se detecta qualquer ressentimento na sua voz.
- Eu deito a água tónica - diz Grammaticus, estendendo-lhe o copo.
Depois disso, Daisy deixa passar alguns segundos para o silêncio se neutralizar e por fim diz ao pai:
- Vou acabar de pôr a mesa.
Talvez Henry esteja demasiado preocupado ou demasiado impaciente por garantir o sucesso daquela reunião familiar. Será que isso é importante? Se a maturidade de Daisy lhe tiver permitido prescindir de mais um tutor na sua vida, que pode ele fazer em relação a isso? Há uma mudança nela que ele não consegue perceber, uma certa agitação que está sempre a diluir-se na delicadeza de maneiras, um certo grau de combatividade que vai aumentando e diminuindo. Por outro lado, não lhe apetece nada ficar sozinho com o sogro. Está desejoso de que Rosalind chegue a casa com todas as suas competências: de mãe, de filha, de mulher, de advogada.
- Gostava imenso de ver as cópias das provas - diz a Daisy.
- Está bem.
Perowne senta-se no outro sofá, de frente para Grammaticus, separados pela mesa thakat polida, mas riscada, e empurra as nozes para mais perto dele. Ouvem-na praguejar brandamente ao vasculhar a mochila no átrio de entrada. Mesmo que estivessem de acordo sobre um assunto em que valesse a pena falar, nenhum deles teria qualquer interesse nas opiniões do outro. Nenhum deles se pode dar ao luxo de perder tempo com conversas de circunstância. Por isso, mantêm-se satisfeitos com o seu silêncio. Confortavelmente sentado pela primeira vez desde que chegou a casa, com os pés deliciosamente aliviados do seu peso, a disposição melhorada pelo vinho e por três copos de champanhe com o estômago vazio, com a audição ainda ligeiramente afectada pela banda de Theo e as coxas a doerem-lhe por causa do jogo de squash, Perowne abandona-se a uma doce ausência. Nada lhe interessa muito. Tudo o que o preocupava se resolveu benignamente. Os pilotos são russos inofensivos, Lily está a ser bem tratada, Daisy está em casa com o seu livro, aqueles dois milhões de manifestantes são pessoas bem intencionadas, Theo e Chás compuseram uma canção óptima, Rosalind ganhará o caso na segunda-feira e está a vir para casa, é estatisticamente muito pouco provável que a sua família seja morta por terroristas nessa noite, desconfia que a sua sopa será uma das melhores que jamais fez, todos os doentes da lista da semana seguinte vão ficar bem, Grammaticus não é mal intencionado e o dia seguinte, domingo, permitir-lhe-á ter uma manhã de sono e sensualidade com Rosalind. Está na hora de servir mais um copo.
No momento em que estende o braço para a garrafa e olha para o copo do sogro ouvem um forte som metálico vindo do átrio, uma voz forte a chamar Daisy, um «iu!» gritado num tom de barítono, e a porta da frente a fechar-se com um estrondo e uma força que provoca ondas concêntricas no gim do poeta; depois um ruído surdo e o gemido de dois corpos a chocarem. Theo chegou e está a abraçar a irmã. Alguns segundos depois, ao entrarem na sala de mão dada, proporcionam como que um quadro das respectivas obsessões e carreiras: Daisy traz na mão uma cópia das provas do livro e Theo traz a guitarra dentro do estojo pendurado a tiracolo. Theo é o elemento da família que está mais à vontade com Grammaticus. Têm a música em comum e não há competição entre eles: Theo toca, o avô ouve e vai cuidando do seu arquivo de blues, que agora está a ser transferido para um disco rígido com a ajuda do neto.
- Não se levante, avô - diz, pousando a guitarra contra a parede.
Mas enquanto Theo se aproxima o avô levanta-se e abraçam-se os dois sem inibições. Daisy senta-se ao lado do pai e põe o livro no colo dele.
Grammaticus agarrou o braço do neto e parece animado, rejuvenescido pela presença dele.
- Então ouvi dizer que tens uma canção nova para mim.
As provas do livro estão impressas num papel verde azulado com letras pretas. Ao ver o título e o nome do autor, Perowne desliza o braço por cima dos ombros da filha e aperta-os e Daisy chega-se mais para ele, na tentativa de ver o livro através dos olhos dele. Ele vê-o através dos dela e tenta imaginar o seu entusiasmo. Quando tinha a idade dela era um aluno marrão do quinto ano de Medicina, mergulhado num universo de nomes em latim e de factos materiais, muito longe do mundo dela. Com a mão que está livre volta a página e lêem os dois em conjunto as três palavras, desta vez rodeadas por um rectângulo de duas linhas, My Saucy Bark, Daisy Perowne, e, ao fundo da página, o nome da editora, seguido por Londres, Boston. O barco dela, seja qual for o seu tamanho, atravessará as correntes transatlânticas. Theo está a dizer qualquer coisa e Henry levanta os olhos.
- Papá. Papá! A canção. O que é que achaste? Quando os filhos eram pequenos preocupava-se em
fazer uma distribuição equitativa do orgulho. Como é grande o sucesso dos seus filhos! Deviam ter falado mais cedo da canção, quando estava sozinho com Grammaticus.
Mas Henry estava a precisar daquele meio minuto de divagação e pensamento positivo.
- Fiquei fascinado - diz. E, para surpresa de todos, vira a cabeça para o tecto e canta com uma precisão aceitável: - Let me take you there, My city square, city square.
Theo tira um CD do bolso do casaco e dá-o ao avô.
- Fizemos uma gravação hoje à tarde. Não está perfeita, mas dá-lhe uma ideia.
Henry volta a concentrar a sua atenção na filha.
- Gosto deste «Londres, Boston». Tem muita classe. - Percorre as pequenas letras maiúsculas com o dedo. Na página seguinte lê com alívio a dedicatória: Para John Grammaticus.
Com uma súbita angústia, Daisy segreda-lhe ao ouvido:
- Não sei se fiz bem. Devia tê-lo dedicado a ti e à mãe. Não sabia o que havia de fazer.
Ele volta a apertá-la contra si e murmura:
- Fizeste exactamente o que devias ter feito.
- Não sei. Ainda estou a tempo de mudar.
- Foi ele que te iniciou. Faz todo o sentido. Vai ficar muito feliz. Estamos todos muito felizes. Fizeste bem. - Depois, para o caso de haver algum ressentimento na sua voz, acrescenta: - E vai haver mais livros. Podes dar a volta à família toda.
Só então se apercebe, pelo tremor do seu corpo aninhado contra o dele e pelo calor que dele emana, de que Daisy está a chorar. Afunda a cara no braço dele. Theo e o avô estão noutro lado da sala, ao pé dos CD, a falarem sobre um pianista boogie.
- Então, miúda - diz-lhe ao ouvido. - Que aconteceu, querida?
Ela chora ainda mais, sem fazer barulho, e abana a cabeça sem conseguir falar.
- Queres ir lá acima à biblioteca?
Daisy volta a abanar a cabeça e ele acaricia-lhe o cabelo e fica à espera.
Será infeliz no amor? Tenta resistir ao impulso de fazer especulações. Não se lembra de nenhum momento em especial da infância dela, mas é uma experiência vagamente familiar, se bem que de há muito tempo, esperar que ela recupere para então lhe contar o que está a fazê-la chorar. Sempre teve dificuldade em falar. Todos aqueles romances que leu em criança, sobretudo depois de o avô tomar a seu cargo a educação literária dela, a ensinaram a descrever com precisão os seus sentimentos. Henry recosta-se no sofá, abraçando paciente e ternamente a filha. Já não está a chorar, mas continua com a cabeça encostada ao ombro dele e de olhos fechados. O livro continua aberto no colo dele, na página da dedicatória. Atrás dele, Theo e o avô falam de discos e, como verdadeiros devotos, falam em murmúrio, impregnando a sala de um ambiente calmo. Grammaticus tem outro copo de gim na mão, talvez o terceiro, mas continua estranhamente sóbrio. Perowne sente um formigueiro no braço, no sítio onde a cabeça de Daisy está a fazer pressão. Olha ternamente para ela, para o pouco que consegue ver do seu rosto. À volta dos seus olhos não há qualquer traço, nem longínquo, de envelhecimento nem de experiência, apenas uma pele boa e limpa, ligeiramente avermelhada, como a periferia de uma ferida. As manifestações exteriores, os novos brinquedos do desenvolvimento sexual, obscurecem a realidade de uma infância que se afasta devagar. Daisy começou a ter os seios maiores e a ter período menstrual quando a sua cama ainda estava tão cheia de ursinhos e outras coisas do género que quase não sobrava espaço para ela. Depois foi uma primeira conta bancária, um curso universitário, uma carta de condução a esconderem essa criança que teimava em se manter e que só o pai ou a mãe conseguem reconhecer num adulto recente. Mas, ao vê-la agora, sabe que embora esteja aninhada contra ele aquele gesto já não é inocente. É provável que a mente dela esteja a rodopiar muito depressa, mais depressa do que a dele consegue seguir, em torno de um mosaico quebrado de acontecimentos recentes - vozes que se erguem, visões de ruas parisienses, uma mala aberta ou uma cama desfeita, qualquer coisa que está a deixá-la angustiada. Olha-se para uma cabeça, para um cabelo bonito, e não se pode fazer nada senão adivinhar.
Este segundo interlúdio de devaneio pode ter durado cinco minutos, talvez dez. A certa altura, quando a lógica dos seus pensamentos começa a desintegrar-se, fecha os olhos e deixa-se vaguear para trás e para baixo, uma sensação agradável onde surgem um rio lamacento e uns dedos desajeitados a desatar uma corda cheia de nós que é também um meio de converter moeda e transformar fins-de-semana em dias de trabalho. Mas, nesse momento de abandono, sabe que não deve dormir - tem convidados em casa e outras responsabilidades que não consegue identificar imediatamente. O som de Rosalind a abrir a porta da frente fá-lo dar um salto e olhar com expectativa por cima do ombro. Daisy também levanta um pouco a cabeça e Theo e Grammaticus interrompem a sua conversa. Há uma pausa anormalmente longa antes de ouvirem o barulho da porta a fechar-se. Perowne lembra-se de que a mulher pode vir carregada de sacos de compras ou de embrulhos, ou até de enormes processos para ver em casa, mas no momento em que vai levantar-se ela entra na sala. Vem devagar, hirta, aparentemente preocupada com o que irá encontrar. Traz a sua mala de pele castanha e está pálida, com o rosto terrivelmente tenso, como se umas mãos invisíveis estivessem a puxar-lhe a pele para trás, para as orelhas. Os olhos estão muito abertos e escuros, desesperados por comunicar o que os seus lábios, que se afastam e se tornam a fechar uma só vez, não conseguem dizer-lhes. Vêem-na parar e olhar para trás, para a porta por onde acabou de entrar. - Mamã? - chama Daisy.
Perowne liberta-se da filha e põe-se de pé. Apesar de Rosalind trazer um casaco de Inverno por cima do fato, tem a sensação de conseguir ver a sua pulsação acelerada, talvez por causa da sua respiração rápida e superficial. A família chama-a e todos começam a dirigir-se para ela, mas ela afasta-se deles e encosta-se à parede da sala. Avisa-os com os olhos, com um movimento furtivo da mão. Não é só medo que vêem na cara dela, mas também raiva, e talvez o lábio de cima retesado indique repugnância. Através da pequena fresta entre as dobradiças da porta e a porta propriamente dita, Perowne vê um vulto no átrio de entrada, não mais do que uma sombra, a hesitar e depois a afastar-se. Pela reacção de Rosalind, apercebem-se de que alguém vai entrar na sala antes de o verem entrar. Mas o vulto que Perowne está a ver no vestíbulo está parado, o que o leva a concluir muito antes dos outros que há duas pessoas estranhas lá em casa, e não uma.
Quando o homem entra na sala, Perowne reconhece imediatamente a roupa: o blusão de cabedal e o gorro de lã. Os dois homens sentados no banco estavam à espera da sua oportunidade. Pouco antes de se lembrar do nome, reconhece também a cara, o andar característico, os tremores nervosos ao aproximar-se, demasiado, de Rosalind. Em vez de se encolher perante ele, mantém a sua posição. Mas tem de desviar a cabeça para conseguir encontrar finalmente a palavra que tem estado a tentar dizer. Olha para o marido.
- Faca - diz, como se estivesse a falar apenas para ele. - Ele tem uma faca.
A mão direita de Baxter está enterrada no bolso do blusão. Observa a sala e as pessoas que nela se encontram com um sorriso fechado nos lábios, como uma pessoa cheia de vontade de contar uma anedota. Deve ter passado a tarde toda a sonhar com a sua entrada naquela casa. Com movimentos infinitesimais da cabeça, o seu olhar desloca-se de Theo e Grammaticus, que estão ao fundo da sala, para Daisy e finalmente para Perowne, que está à frente dela.
Claro que é lógico que Baxter esteja ali. Estupidamente, o único pensamento de Perowne é esse: claro. Faz sentido. Quase todos os elementos do seu dia estão ali reunidos; só falta a mãe e Jay Strauss com a sua raqueta de squash. Antes de Baxter falar, Perowne tenta ver a sala pelos olhos dele, como se isso pudesse ajudar a prever o grau de perturbação que se avizinha: duas garrafas de champanhe, o gim e as tigelas do limão e do gelo, o tecto alto que os minimiza, com os seus ornamentos, as gravuras de Bridget Riley que ladeiam o Hodgkin, os candeeiros com a sua luz ténue, o chão de madeira de cerejeira visível nos sítios onde não há carpetes, as pilhas desordenadas de livros austeros, as décadas de verniz na mesa thakat. A escala de retribuição pode ser grande. Perowne vê também a família através de Baxter: a rapariga e o velho não constituem problema; o rapaz é forte, mas não parece muito habilidoso. Quanto ao médico alto e magro, é a razão de Baxter estar ali. Claro. Como disse Theo, nas ruas há orgulho, e ali está ele, com uma faca escondida. Quando tudo pode acontecer, tudo é importante.
Henry está a três metros de Baxter. Quando Rosalind o avisou da faca, ficou parado a meio de um passo, numa posição instável. Agora, como uma criança a brincar ao «mamã dá licença», leva o pé que ficou atrás para junto do que está à frente e afasta-os. Com os olhos e um ligeiro aceno da cabeça, Rosalind pede-lhe que se afaste. Não sabe o que está para trás. Pensa que aqueles homens são ladrões e que o mais sensato é deixá-los levar o que quiserem e ter esperanças de que se vão embora. Também não sabe da doença. O encontro em University Street esteve todo o dia no seu pensamento, como uma nota sustentada no piano. Mas já quase se tinha esquecido de Baxter, obviamente não da sua existência, mas daquela realidade física agitada, do cheiro amargo a nicotina, da mão direita trémula, do ar amacacado, agora ainda mais vincado pelo gorro de lã.
Com um olhar, Baxter dá-lhe a entender que também o viu dar aquele passo, mas as suas palavras são:
- Quero os telemóveis todos fora dos bolsos e em cima da mesa.
Ao ver que ninguém se mexe, diz:
- Primeiro vocês, miúdos. - Depois para Rosalind: - Vá, diz-lhes.
- Daisy, Theo. Acho que é melhor fazerem o que ele está a dizer.
Há mais raiva do que medo na voz dela, e uma certa rebelião naquele «acho». As mãos de Daisy estão a tremer, e está a custar-lhe tirar o telefone do pequeno bolso da saia. Está a arfar de exasperação. Theo pousa o telefone em cima da mesa e vai ajudá-la; foi uma boa ideia, pensa o pai, pois leva Theo para junto dele. A mão direita de Baxter continua dentro do casaco. Se conseguir um momento concertado, estão em boa posição para o atacar.
Mas Baxter tem a mesma ideia.
- Põe o dela ao pé do teu e volta para onde estavas. Já. Lá para trás. Mais para trás.
Algures no escritório de Henry, numa gaveta cheia de lixo, está um spray de gás pimenta que comprou há muitos anos em Houston. Talvez ainda funcione. Lá em baixo na arrecadação, por entre o material de campismo e os brinquedos antigos, há um taco de basebol. Na cozinha há uma enorme variedade de facas e cutelos. Mas a ferida no esterno é a prova de que perderia qualquer confronto com facas em segundos.
- Agora o teu - diz Baxter, voltando-se para Rosalind. Ela troca um olhar com Henry, mete a mão no bolso
do casaco e pousa o telemóvel na palma da mão de Baxter.
- Agora tu.
- O meu está lá em cima a carregar.
- Não piores as coisas, merdoso - diz Baxter. - Estou a vê-lo.
A parte de cima do telefone é visível no bolso em curva das calças e o resto percebe-se pela protuberância da ganga.
- Pois está.
- Põe-no no chão e empurra-o para mim.
Para o encorajar, Baxter tira finalmente a faca do bolso. Pelo que Perowne consegue ver, parece-lhe uma faca de cozinha francesa antiquada, com um cabo de madeira cor-de-laranja e uma lâmina curva, sem brilho. Com cuidado para que todos os seus movimentos sejam lentos e totalmente desprovidos de surpresa, ajoelha-se e empurra o telemóvel para Baxter, que não o apanha. Em vez disso, grita:
- Ei, Nige. Podes entrar agora. Apanha os telemóveis. O tipo da cara de cavalo pára à porta, um pouco constrangido.
- Esta casa é grande como o caraças. - Quando vê Perowne diz: - Olha, o tarado do volante.
Enquanto o amigo está a juntar os telemóveis, Baxter diz:
- Então e ali o avozinho? Não me diga que eles ainda não lhe deram um telefone.
Grammaticus sai do canto onde tem estado e dá alguns passos na direcção dele. Na mão direita tem o copo vazio.
- Por acaso, não tenho. E se tivesse convidava-o a enfiá-lo pelo cu acima, seu cobarde.
- É teu pai? - pergunta Baxter a Henry.
Não é altura para estar a fazer distinções, por isso, acha que faz bem em dizer:
- É.
Mas enganou-se. Baxter atravessa a sala, curvado, com o seu passo incerto, e só pára para passar por detrás de Nigel. Segura a faca com firmeza, com a ponta para baixo.
- Isso não foi muito bonito, vindo de um velho aperaltado como você.
Sentindo a iminência de uma fatalidade, Perowne tenta interpor-se entre Baxter e Grammaticus, mas Nigel põe-se à sua frente, com um sorriso de desdém. Não vai ter tempo. Diz depressa:
- A sua guerra não é com ele.
Mas nesse momento Baxter já está à frente de Grammaticus e, embora Theo, adivinhando o que está para vir, estenda um braço para proteger o avô, a mão de Baxter descreve um arco à frente da cara do velhote. Ouvem o barulho suave de um osso a estalar, como um ramo verde a partir-se. Todos os Perowne soltam um «oh» ou um «não», mas os seus piores receios não se concretizam. Não foi a mão que estava a segurar a faca que atingiu Grammaticus. O seu nariz foi partido com os nós dos dedos da outra mão. As pernas sãs cedem, e começa a cair, mas Theo apanha-o, ajuda-o a baixar-se de modo a ficar de joelhos e tira-lhe o copo da mão. Sem um som. Sem dar ao seu atacante a satisfação de um gemido, Grammaticus tapa o rosto com as mãos. Vêem-se gotas de sangue junto ao relógio de pulso.
Henry apercebe-se subitamente de que até àquele momento tem estado envolto numa espécie de nevoeiro. Admirado, até cauteloso, mas não propriamente assustado, útil. Como lhe é habitual, tem estado a sonhar, com «atacar» Baxter com Theo, com sprays de gás pimenta, com tacos de basebol, com cutelos, só com fantasias. A verdade, agora demonstrada, é que Baxter é um caso especial, um homem convencido de que não tem futuro e de que por isso está livre de consequências. E isso é apenas o exterior. Dentro dele há perturbações únicas, a expressão individual da sua doença - impulsividade, falta de autodomínio, paranóia, variações de humor, momentos de depressão alternados com acessos súbitos de raiva. Algumas destas coisas, ou todas elas, ou mais ainda, tê-lo-ão ajudado, incitado, enquanto pensava na refega que tivera com Henry naquela manhã, e estarão agora a incitá-lo.
Ainda não há nenhuma deterioração intelectual óbvia - as emoções são a primeira coisa a desaparecer, e a seguir é a coordenação física. Qualquer pessoa com um número significativamente superior a quarenta repetições da sequência CAG no meio de um obscuro gene do cromossoma quatro é obrigada a partilhar aquele destino de uma forma específica. Está escrito. Não há nenhuma dose de amor, de medicamentos, de lições da Bíblia ou de clausura na prisão que possa curar Baxter ou desviá-lo do seu percurso. Está determinado por frágeis proteínas, mas podia estar gravado na pedra ou no aço temperado.
Rosalind e Daisy estão a dirigir-se para Grammaticus, para o sítio onde ele está ajoelhado. Theo, sem saber o que fazer, tem a mão pousada no ombro do avô. O caminho de Perowne continua bloqueado por Nigel. Só seria possível passar com uma luta física. Baxter, ainda com a faca na mão direita, afasta-se e, com um movimento nervoso e impreciso da mão esquerda, tira o gorro de lã e abre o fecho do blusão. Acende um cigarro, de forma desajeitada. Ao mesmo tempo que fuma brinca com a pega do fecho e olha para a cena em torno do homem que está no chão, apoiando o peso, de forma assimétrica, entre o pé esquerdo e o direito. Parece estar à espera para ver o que ele próprio fará a seguir.
Apesar de todos os argumentos redutores, Perowne não consegue convencer-se de que são apenas moléculas e genes defeituosos que estão a aterrorizar a sua família e que partiram o nariz do seu sogro. Perowne também é responsável. Humilhou Baxter na rua à frente dos seus capangas e fê-lo no momento em que ele começava a tomar consciência da sua doença. Naturalmente, Baxter está ali para salvar a sua reputação à frente de uma testemunha. Deve ter aliciado ou subornado Nigel. É uma patetice do rapaz fazer-se cúmplice dele. Baxter está a agir enquanto pode, pois deve saber o que o futuro lhe reserva. Nos próximos meses e anos, a atetose, aqueles movimentos involuntários e descontrolados, e a coreia - os tremores involuntários, os esgares, o encolher dos ombros e a flexão dos dedos das mãos e dos pés - tomarão conta dele, torná-lo-ão demasiado absurdo para andar na rua. Aquele tipo de criminalidade é para pessoas fisicamente sãs. A certa altura ficará preso à cama, a contorcer-se ou com alucinações, num hospital psiquiátrico, talvez inóspito, certamente desagradável, e será aí que a sua lenta degradação será tratada, se tiver sorte, com alguma eficiência. Agora, enquanto ainda consegue segurar uma faca, está ali para afirmar a sua dignidade e talvez até para configurar a forma como será lembrado. Pois foi, o merdoso do Mercedes cometeu um grande erro quando partiu o espelho do carro do velho Baxter. A história de Baxter a ser abandonado pelos seus homens, derrotado por um desconhecido que conseguiu ir-se embora ileso, tudo isso será esquecido.
E onde é que esse desconhecido tinha a cabeça, se conhecia a doença, se tinha visto os doentes dos seus colegas e até se tinha correspondido há alguns anos com um neuro-cirurgião de Los Angeles sobre um novo tipo de intervenção? A ideia era enxertar por um método estereotaxico em certas zonas do núcleo caudado e do putamen um cocktail de células estaminais de três fontes diferentes e tecido nervoso do doente. Nunca resultou, e Perowne também não se sentiu muito tentado por ele. Porque é que não conseguiu perceber que era perigoso humilhar um homem emocionalmente tão instável como Baxter? Porque queria evitar levar uma tareia e porque queria ir jogar squash. Usou e abusou da sua autoridade para evitar uma crise, e a forma como agiu conduziu-o a outra, muito pior. A responsabilidade é dele; há sangue de Grammaticus no chão, porque Baxter julga que o velhote é pai dele. Quis começar por fazer algo que desonrasse o filho.
Rosalind e Daisy estão debruçadas sobre Grammaticus com lenços de papel.
- Está tudo bem - diz ele, com uma voz abafada. - Já parti o nariz uma vez. Nos malditos degraus de uma biblioteca.
- Já viste? - diz Baxter, dirigindo-se a Nigel. - Já estamos aqui há tanto tempo e ainda não nos ofereceram uma bebida.
É uma oportunidade para se livrar de Nigel e se aproximar da mesa onde está o tabuleiro. Henry está desejoso de atrair Baxter para o lado da sala onde se encontra e de o afastar do grupo que está junto de Grammaticus. Só receia qualquer impulso de Rosalind ou de um dos seus filhos quando Baxter estiver perto dele. Perowne toca com o indicador numa das garrafas de champanhe, lança um olhar de interrogação a Baxter e fica à espera. Rosalind tem o braço por cima dos ombros de Daisy, e estão ambas a tratar de Grammaticus. Theo está perto delas, de olhos fixos no chão, evitando qualquer contacto visual com Baxter, que conseguia finalmente retirar a sua mão irrequieta do puxador do fecho. A faca regressou ao bolso.
- Dois gins, com gelo e limão - diz.
A vantagem de diminuir ainda mais a coordenação física de Baxter tem de ser sopesada com o risco de a sua desinibição o levar a fazer coisas ainda mais odiosas. É uma escolha, um cálculo que, apesar de aterrorizado, Perowne acha que consegue fazer. Inclina-se como um farmacêutico a preparar uma mezinha e enche dois copos de vinho até à borda com Tanqueray, juntando uma rodela de limão e um cubo de gelo a cada um. Passa um a Nigel e segura no que se destina a Baxter. A mesa está no caminho dele; para alívio de Henry, Baxter dá a volta ao sofá e à mesa para vir buscar o copo.
- Olhe - diz Perowne. - Para podermos discutir o que está a acontecer, estou preparado para reconhecer que agi mal hoje de manhã. Se quiser mandar arranjar o carro...
- Estiveste a pensar?
O copo não está estável nas mãos de Baxter e, quando se volta para piscar o olho a Nigel, entorna uma quantidade de gim.
Talvez seja o hábito de esconder a doença que o leva a estabilizar o copo levando-o aos lábios e despejando o seu conteúdo em quatro goladas iguais. Nesse pequeno espaço de tempo, Perowne pensa nos cabos telefónicos e se Baxter se terá dado ao trabalho de os cortar. Também há um botão de alarme junto à porta da frente e outro no quarto. Estará outra vez a fantasiar? Theo, Rosalind e Daisy estão a ajudar Grammaticus a levantar-se. Apesar de Perowne tentar, com um aceno da mão sub-reptício, que vão para o fundo da sala daquele lado, eles trazem o velhote para junto da lareira.
- Está com frio - diz Rosalind. - Precisa de se deitar. O seu plano foi ao ar. Estão outra vez todos juntos. Pelo menos Theo está mais à mão. Já decidiu que atacar Baxter é um sonho infantil. De certeza que Nigel tem uma arma. Está perante dois verdadeiros bandidos. Então, o que lhe resta? Vão ficar ali parados à espera que Baxter faça uso da faca? Henry sente-se oscilar sobre os pés, devido ao medo e à indecisão. Uma forte vontade de urinar está constantemente a intrometer-se nos seus pensamentos. Quer que Theo olhe para ele, mas sente que Rosalind deve saber qualquer coisa ou estar a ter uma ideia. A forma como lhe tocou pode querer dizer alguma coisa. Está mesmo por trás dele, a acomodar o pai no sofá. Daisy parece mais calma. Tratar do avô ajudou-a. Theo está de pé, de braços cruzados, ainda a olhar fixamente para o chão, talvez a fazer cálculos. Os seus braços têm um aspecto forte. Tanto talento numa sala, mas inútil, pois não há nenhum plano nem forma de o comunicar. Talvez tenha de agir sozinho, deitar Baxter ao chão e confiar que os outros virão ajudar. Continua a fantasiar. E Baxter está tão volátil, tão despreocupado, que as probabilidades de fazer mal se multiplicam. Estão ali todas as pessoas que ama, e tão vulneráveis. Os pensamentos de Henry vão-se anulando uns aos outros, vão-se afastando e voltando, sem que consiga dominá-los.
O mais adequado seria dar um murro com força na cara de Baxter e ter esperança de que Theo atacasse Nigel. Mas quando Henry se imagina prestes a agir e vê uma versão espectral de si próprio como guerreiro separar-se do seu corpo e atacar Baxter, a sua pulsação acelera tanto que fica tonto, fraco, instável. Nunca na vida bateu a ninguém na cara, nem sequer a uma criança. Só uma vez encostou uma faca a uma pele anestesiada num ambiente controlado e esterilizado. Não sabe, pura e simplesmente, agir com violência.
- Venha daí mais, senhorio.
De bom grado, pois este gesto é o seu único fragmento de uma estratégia, Perowne pega na garrafa de gim e enche outra vez o copo que Baxter lhe estende e o de Nigel. Quando o faz repara que Baxter está a olhar não para ele, mas para Daisy. A fixidez do seu olhar e aquele pequeno sorriso sustido provocam-lhe um calafrio que percorre toda a sua cabeça. Baxter entorna mais gim quando leva o copo à boca. Não desvia o olhar, nem mesmo quando pousa o copo na mesa. Henry fica desapontado ao ver que apenas deu um pequeno golo. Não disse quase nada desde a agressão a Grammaticus, e é provável que também não tenha nenhum plano; aquela visita é uma performance improvisada. A sua doença dá-lhe uma certa sensação de liberdade, mas provavelmente não sabe até onde é que está preparado para ir.
Estão todos à espera até que por fim Baxter diz:
- Então como é que te chamas?
- Meu Deus - atalha Rosalind muito depressa. - Se se aproximar dela, vai ter de me matar a mim primeiro.
Baxter volta a meter a mão direita no bolso.
- Está bem, pronto - diz ele num tom lamuriento. - Eu mato-te primeiro. - Depois volta a concentrar o mesmo olhar em Daisy e volta a perguntar, exactamente no mesmo tom: - Então, como é que te chamas?
Daisy afasta-se da mãe e responde-lhe. Theo descruza os braços. Nigel agita-se e aproxima-se mais dele.
Daisy está a olhar para Baxter, mas com uma expressão aterrorizada, com uma voz sem fôlego e com o peito a subir e a baixar rapidamente.
- Daisy? - O nome parece improvável nos lábios de Baxter. Parece um nome tolo, vulnerável, infantil. - E isso é diminutivo de quê?
- De nada.
- Menina Nada. - Baxter está a deslocar-se atrás do sofá onde Grammaticus está deitado e ao lado do qual se encontra Rosalind.
- Se se for embora agora e nunca mais voltar - diz-lhe Daisy -, dou-lhe a minha palavra de honra de que não telefonamos à polícia. Pode levar o que quiser. Mas, por favor, vá-se embora.
Ainda antes de ela ter acabado de falar, já Baxter e Nigel estão a rir à gargalhada. É um riso deliciado, não irónico, e Baxter ainda está a rir-se quando estende a mão para o braço de Rosalind e a puxa, fazendo-a ficar sentada no sofá junto dos pés de Grammaticus. Perowne e Theo fazem menção de avançar para ele. Quando vê a faca, Daisy dá um pequeno grito abafado. Baxter está a segurá-la com a mão direita, apoiada ao de leve no ombro de Rosalind, que olha rigidamente para a frente.
Baxter diz a Perowne e a Theo:
- Vocês os dois lá para trás, para o fundo da sala. Vá. Lá para o fundo. Fica de olho nele, Nige.
A distância entre a mão de Baxter e a carótida de Rosalind é inferior a dez centímetros. Nigel tenta empurrar Perowne e Theo para o canto mais distante da sala, mas eles conseguem afastar-se dele e ir para cantos diagonalmente opostos da sala, a uma distância de três a quatro metros de Baxter, Theo ao pé da lareira e o pai junto a uma das três janelas altas.
Henry tenta afastar não só o pânico, mas também um tom de súplica da sua voz. Quer transmitir a imagem de um homem razoável. Só em parte o consegue.
O seu ritmo cardíaco torna a sua voz fraca e irregular; sente os lábios e a língua como se estivessem inchados.
- Ouça, Baxter. A sua discussão foi comigo. A Daisy tem razão. Pode levar o que quiser. Nós não faremos nada. A alternativa para si será uma prisão psiquiátrica. E tem muito mais tempo do que pensa.
- Vai à merda - diz Baxter, sem voltar a cabeça. Mas Perowne continua:
- Depois de termos estado a falar hoje de manhã contactei com um colega. Há uma nova intervenção que está a ser feita nos Estados Unidos, associada a um novo fármaco, que ainda não está no mercado, mas de que já dispomos para ensaios. Os primeiros resultados obtidos em Chicago são espantosos. Mais de oitenta por cento dos doentes estão em remissão. Vai iniciar-se o ensaio com vinte e cinco doentes cá em Londres no mês que vem. Posso inclui-lo.
- De que é que ele está a falar? - pergunta Nigel. Baxter não responde, mas há uma tensão, uma súbita
imobilidade nos seus ombros que sugere que está a pensar.
- Estás a mentir - diz por fim, mas com uma falta de convicção que encoraja Perowne a continuar.
- Estão a utilizar a interferência de RNA de que falámos hoje de manhã. O projecto avançou mais depressa do que alguém poderia supor.
Está tentado. Henry tem a certeza de que está tentado.
- Não é possível - diz Baxter. - Sei que não é possível. - Quer convencer-se disso ao dizê-lo.
- Eu pensava o mesmo - diz Henry calmamente. - Mas afinal parece que é possível. O ensaio começa no dia vinte e três de Março. Estive a falar com um colega hoje à tarde.
Com um assomo de agitação, Baxter impede-o de continuar.
- Estás a mentir - diz outra vez, e depois mais alto, quase a gritar, protegendo-se contra a tentação da esperança. - Estás a mentir, e é melhor calares-te. Olha para a minha mão.
- A mão que empunha a faca aproxima-se mais da garganta de Rosalind. Mas Perowne não pára.
- Garanto-lhe que não estou. Tenho todos os dados lá em cima no meu escritório. Estive a imprimi-los hoje à tarde. Pode ir lá acima comigo e...
É abruptamente interrompido por Theo:
- Pára com isso, pai! Pára de falar. Pára com essa merda se não ele...
E tem razão. Baxter tem a lâmina encostada ao pescoço de Rosalind, que está sentada no sofá, muito direita, com as mãos a apertar os joelhos, o rosto sem expressão e o olhar fixo à sua frente. Só um tremor nos ombros mostra o seu terror. A sala está em silêncio. Grammaticus, do outro lado do sofá, tirou finalmente as mãos da cara. O sangue coagulado por cima do seu lábio superior aumenta a sua expressão de horror e incredulidade. Daisy está de pé, junto ao braço do sofá onde o avô tem a cabeça apoiada. Está qualquer coisa prestes a explodir dentro dela, um grito ou um soluço, e o esforço de a reprimir escurece o tom da sua pele. Theo, apesar dos gritos de aviso, aproximou-se um pouco mais deles. Os seus braços estão inutilmente caídos ao lado do corpo. Tal como o pai, não consegue tirar os olhos da mão de Baxter. Perowne observa-o e tenta convencer-se de que o silêncio de Baxter significa que está a debater-se com a tentação dos ensaios do medicamento, da nova intervenção.
Vindo da rua, ouve-se o som de um helicóptero, talvez a vigiar a dispersão da manifestação. Há também uma vozearia alegre e passos na rua, quando um grupo de amigos entusiasmados, talvez estudantes estrangeiros, dá a volta à praça e se encaminha para Charlotte Street, onde os restaurantes e bares devem estar a ficar cheios. O centro de Londres prepara-se para mais uma noite de sábado.
- Bem, isso não interessa. Eu estava era a querer ter uma conversa com esta jovem. A Menina Nada.
Nigel, que está no meio da sala com um olhar mal-intencionado, com os lábios húmidos e o rosto cavalar subitamente animado, diz num tom insinuante:
- Sabes o que é que eu estou a pensar?
- Sei, Nige. E estava a pensar o mesmo. - Depois diz para Daisy: - Olha bem para a minha mão...
- Não - diz Daisy muito depressa. - Mamã. Não.
- Cala-te. Ainda não acabei. Olha bem para a minha mão e ouve. Está bem? Se fizeres merda, estão desgraçados. Ouve bem. Tira a roupa. Vá. A roupa toda.
- Oh, meu Deus - diz Grammaticus em voz baixa. Theo grita do outro lado da sala:
- Pai?
- Não - diz Henry, abanando a cabeça. - Deixa-te ficar onde estás.
- Muito bem - exclama Baxter, dirigindo-se não a Theo, mas a Daisy, que olha para ele incrédula, a tremer e a abanar vagamente a cabeça. O medo dela está a excitá-lo. Todo o seu corpo se agita e estremece.
Daisy consegue dizer num sussurro:
- Não consigo. Por favor... Não consigo.
- Consegues sim, querida.
Com a ponta da faca, Baxter faz um golpe com uns trinta centímetros no sofá, mesmo por cima da cabeça de Rosalind. Ficam a olhar para aquela ferida, aquele vergão, que incha a todo o seu comprimento à medida que o estofo branco amarelado vai surgindo, como gordura subcutânea.
- Despacha-te lá com isso - resmunga Nigel.
A mão de Baxter e a faca estão outra vez no ombro de Rosalind. Daisy olha para o pai. O que há-de fazer? Mas ele não sabe o que há-de dizer-lhe. Dobra-se para tirar as botas, mas não consegue abrir o fecho, os seus dedos parecem demasiado inábeis. Com um grito de frustração, assenta um joelho no chão e puxa o fecho até que ele acaba por ceder. Senta-se no chão, como uma criança a despir-se e tira as botas. Ainda sentada, tenta desajeitadamente abrir o fecho da saia. Ao despir-se, encolhe-se de forma abjecta para si própria. Rosalind está a tremer violentamente. Baxter debruça-se sobre o seu ombro e tenta estabilizar a mão com a faca encostada ao pescoço dela. Mas Rosalind não tira os olhos de Daisy, ao contrário de Theo, que parece tão horrorizado que não consegue olhar para a irmã. Continua a olhar fixamente para o chão. Também Grammaticus desviou a cara. Daisy está agora a ser mais rápida. Tira as meias com um sopro de impaciência, por pouco não as rasga, e depois atira-as para o chão. Está em pânico. Arranca a camisola preta e atira-a também para o chão. Está em roupa interior - branca, imaculadamente lavada para a viagem de Paris-, mas não pára. Num movimento ininterrupto, desaperta o soutien e tira as cuecas com o polegar, deixando-as cair-lhe das mãos. Só então olha de relance para a mãe, mas apenas por um instante. Está feito. De cabeça curvada, Daisy está de pé, com os braços caídos ao lado do corpo, sem conseguir olhar para ninguém.
Perowne não via a filha nua há mais de doze anos. Apesar das mudanças, lembra-se daquele corpo de quando lhe dava banho e, apesar do medo, ou talvez por causa dele, é acima de tudo a criança vulnerável que vê à sua frente. Mas sabe que aquela mulher jovem estará profundamente atenta ao que os seus pais estão a descobrir naquele preciso momento, pela curva pronunciada e compacta do seu ventre e pela tumefacção dos seus pequenos seios. Como é que ele não adivinhou mais cedo? Faz todo o sentido; as suas variações de humor, a euforia, o facto de ter chorado por causa da dedicatória. Deve estar no princípio do segundo trimestre. Mas agora não há tempo para pensar nisso. Baxter não mudou de posição. Rosalind também tem os joelhos a tremer. A lâmina impede-a de voltar a cabeça para o marido, que acha que ela está a esforçar-se por cruzar o olhar com o dele.
Daisy está à frente deles, e Nigel diz:
- Credo. Está prenha. É toda tua, amigo.
- Cala-te - ordena Baxter.
Sem ninguém a vê-lo, Perowne deu meio passo para ele.
- E esta, hein? Vejam só - diz Baxter de repente. Está a apontar com a outra mão para o livro de Daisy. Pode estar a esconder a sua confusão ou constrangimento perante uma mulher grávida ou a procurar outras formas de aumentar a humilhação. São dois jovens imaturos, provavelmente sem muita experiência sexual. A condição de Daisy deixa-os embaraçados. Talvez até lhes repugne. É uma esperança. Baxter forçou as coisas até àquele ponto e agora não sabe o que há-de fazer. Nessa altura viu as provas do livro no sofá do outro lado e aproveitou a oportunidade.
- Passa-me isso, Nige.
Quando Nigel se desloca para apanhar o livro, Henry aproxima-se um pouco mais. Theo faz o mesmo.
- My Saucy Bark. Pela atrevida da Daisy Perowne. - Baxter folheia as páginas com a mão esquerda. - Não me disseste que escrevias poemas. Foi tudo escrito por ti?
- Foi.
- Deves ser muito esperta. Estende o livro para ela.
- Lê um. Lê alto o teu melhor poema. Vá lá. Vamos lá ouvir um poema.
Quando pega no livro, Daisy implora-lhe:
- Faço tudo o que quiser. Tudo. Mas por favor tire a faca do pescoço dela.
- Ouviste? - Nigel dá uma risadinha. - Ela diz que faz tudo. Anda daí, atrevida.
- Desculpa, mas não - diz Baxter a Daisy, como se estivesse tão desgostoso como todos os outros. - Podem querer fazer-me alguma surpresa. - Olha por cima do ombro para Perowne e pisca-lhe o olho.
O livro treme nas mãos de Daisy, que o abre ao acaso. Inspira e está prestes a começar, quando Nigel diz:
- Lê o mais porco. Uma coisa mesmo ordinária. Ao ouvir isto, a sua resolução desaparece por completo.
Fecha o livro.
- Não consigo - geme. - Não consigo.
- Vais conseguir - diz Baxter. - Olha para a minha mão. É isso que queres?
Grammaticus diz-lhe em voz baixa.
- Ouve, Daisy. Lê aquele que costumavas ler-me.
- Cala essa merda dessa boca, avô.
Daisy olhou para Grammaticus sem expressão quando ele falou, mas agora parece ter compreendido. Abre outra vez o livro e vira as páginas à procura do poema e, quando o encontra, olha de relance para o avô e começa a ler. A sua voz é rouca e débil. A mão treme tanto que quase não consegue segurar o livro e acaba por segurá-lo também com a outra mão.
- Nada disso - diz Baxter. - Começa outra vez. Não ouvi uma palavra. Nadinha.
E então Daisy recomeça, mas de forma apenas ligeiramente mais audível. Henry pegou várias vezes no livro dela, mas há poemas que só leu uma vez; daquele que ela está a ler só tem uma vaga recordação. Os versos surpreendem-no; é óbvio que não leu com atenção suficiente. São invulgarmente meditativos, melífluos e propositadamente arcaicos. Ela recuou para outro século. Agora, no estado de terror em que se encontra, escapa-lhe ou interpreta mal muito o que ouve, mas, quando a voz de Daisy se eleva um pouco e descobre os rudimentos de um ritmo calmo, Henry sente-se deslizar através das palavras para aquilo que elas descrevem. Vê Daisy numa varanda voltada para uma praia sob o luar de uma noite de Verão; o mar está calmo e a maré cheia, o ar perfumado, e há um brilho final do pôr do Sol. Chama o amante, sem dúvida o homem que virá a ser pai do seu filho, para que venha ver, ou melhor, ouvir a paisagem. Perowne vê um jovem de pele macia, de tronco nu, ao lado de Daisy. Ouvem em conjunto as ondas a baterem nos seixos e um som de uma tristeza profunda que se estende até um passado remoto. Ela pensa que houve outros tempos, mesmo que muito distantes, em que a Terra era nova e o mar consolador, e em que nada se interpunha entre o homem e Deus. Mas naquela noite os amantes ouvem apenas tristeza e perda no barulho das ondas a rebentarem e a afastarem-se da areia. Volta-se para ele e, antes de se beijarem, diz-lhe que têm de se amar um ao outro e ser fiéis, principalmente agora que vão ter um filho, e que não há paz nem certezas, e que os exércitos estão no deserto prontos a combater.
Daisy levanta os olhos. Sem conseguir controlar os espasmos musculares dos joelhos, Rosalind continua a olhar fixamente para a filha. Todos os outros estão a olhar para Baxter, à espera. Baxter está dobrado, com o peso apoiado sobre as costas do sofá. Apesar de a sua mão direita continuar junto do pescoço de Rosalind, está a agarrar a faca com menos firmeza e a sua postura, o ângulo singular da sua coluna, sugere que talvez se sinta menos determinado. Será possível, enquadrar-se-á nos limites do real, que um simples poema de Daisy provoque uma variação de humor?
Por fim levanta a cabeça e endireita-se um pouco, e depois diz abruptamente, com alguma petulância:
- Lê outra vez.
Ela volta uma página para trás e recomeça, com mais confiança, tentando o tom sedutor, variado, de alguém que conta uma história a uma criança:
- Ora aí tens. Não suporta essa palavra. E o que tem isso? Então, Henry, como vão as coisas no hospital?
Em mais de vinte anos nunca lhe perguntou nada sobre o hospital e Henry não pode permitir que a filha seja assim afastada. Por outro lado, é espantoso como ao fim de três anos aqueles dois se zangam mal se reencontram.
Parece divertido ao dizer a Grammaticus, num tom ligeiro:
- A minha memória prega-me partidas muito piores que essa. - Depois volta-se para Daisy, que entretanto deu um passo para trás e parece procurar uma desculpa para sair da sala. Mas Henry quer que ela continue ali. - Explica-me uma coisa. Como é que um verso suporta «teimosamente» e não suporta «corajosamente»?
Daisy responde-lhe num tom bem disposto e aproveita para desarmar Grammaticus.
- Tem a ver com o número de sílabas, papá. Quis que o meu poema tivesse rima interpolada e com o mesmo número de sílabas nos versos que rimavam. E com a palavra «corajosamente» isso não era possível.
Enquanto ela fala, Grammaticus senta-se num dos sofás de pele com um gemido bem audível, que se sobrepõe às últimas palavras dela.
- Não batas mais no velhinho. «Não foi um sonho; Estava bem desperto.» Há muitos versos com métricas diferentes em Shakespeare, até nos sonetos. Garanto-te que o sacana escreveu «corajosamente».
- Isso é de Wyatt - murmura Daisy num tom inacessível aos ouvidos do avô.
Perowne olha para ela e, dissimuladamente, estica o dedo. Ela ganhou e de certeza que sabe que é melhor deixar que seja o avô a ter a última palavra. A menos que queira continuar a discutir até à hora de jantar ou ainda depois.
- Tem razão. Mais gim, avô? - Não se detecta qualquer ressentimento na sua voz.
- Eu deito a água tónica - diz Grammaticus, estendendo-lhe o copo.
Depois disso, Daisy deixa passar alguns segundos para o silêncio se neutralizar e por fim diz ao pai:
- Vou acabar de pôr a mesa.
Talvez Henry esteja demasiado preocupado ou demasiado impaciente por garantir o sucesso daquela reunião familiar. Será que isso é importante? Se a maturidade de Daisy lhe tiver permitido prescindir de mais um tutor na sua vida, que pode ele fazer em relação a isso? Há uma mudança nela que ele não consegue perceber, uma certa agitação que está sempre a diluir-se na delicadeza de maneiras, um certo grau de combatividade que vai aumentando e diminuindo. Por outro lado, não lhe apetece nada ficar sozinho com o sogro. Está desejoso de que Rosalind chegue a casa com todas as suas competências: de mãe, de filha, de mulher, de advogada.
- Gostava imenso de ver as cópias das provas - diz a Daisy.
- Está bem.
Perowne senta-se no outro sofá, de frente para Grammaticus, separados pela mesa thakat polida, mas riscada, e empurra as nozes para mais perto dele. Ouvem-na praguejar brandamente ao vasculhar a mochila no átrio de entrada. Mesmo que estivessem de acordo sobre um assunto em que valesse a pena falar, nenhum deles teria qualquer interesse nas opiniões do outro. Nenhum deles se pode dar ao luxo de perder tempo com conversas de circunstância. Por isso, mantêm-se satisfeitos com o seu silêncio. Confortavelmente sentado pela primeira vez desde que chegou a casa, com os pés deliciosamente aliviados do seu peso, a disposição melhorada pelo vinho e por três copos de champanhe com o estômago vazio, com a audição ainda ligeiramente afectada pela banda de Theo e as coxas a doerem-lhe por causa do jogo de squash, Perowne abandona-se a uma doce ausência. Nada lhe interessa muito. Tudo o que o preocupava se resolveu benignamente. Os pilotos são russos inofensivos, Lily está a ser bem tratada, Daisy está em casa com o seu livro, aqueles dois milhões de manifestantes são pessoas bem intencionadas, Theo e Chás compuseram uma canção óptima, Rosalind ganhará o caso na segunda-feira e está a vir para casa, é estatisticamente muito pouco provável que a sua família seja morta por terroristas nessa noite, desconfia que a sua sopa será uma das melhores que jamais fez, todos os doentes da lista da semana seguinte vão ficar bem, Grammaticus não é mal intencionado e o dia seguinte, domingo, permitir-lhe-á ter uma manhã de sono e sensualidade com Rosalind. Está na hora de servir mais um copo.
No momento em que estende o braço para a garrafa e olha para o copo do sogro ouvem um forte som metálico vindo do átrio, uma voz forte a chamar Daisy, um «iu!» gritado num tom de barítono, e a porta da frente a fechar-se com um estrondo e uma força que provoca ondas concêntricas no gim do poeta; depois um ruído surdo e o gemido de dois corpos a chocarem. Theo chegou e está a abraçar a irmã. Alguns segundos depois, ao entrarem na sala de mão dada, proporcionam como que um quadro das respectivas obsessões e carreiras: Daisy traz na mão uma cópia das provas do livro e Theo traz a guitarra dentro do estojo pendurado a tiracolo. Theo é o elemento da família que está mais à vontade com Grammaticus. Têm a música em comum e não há competição entre eles: Theo toca, o avô ouve e vai cuidando do seu arquivo de blues, que agora está a ser transferido para um disco rígido com a ajuda do neto.
- Não se levante, avô - diz, pousando a guitarra contra a parede.
Mas enquanto Theo se aproxima o avô levanta-se e abraçam-se os dois sem inibições. Daisy senta-se ao lado do pai e põe o livro no colo dele.
Grammaticus agarrou o braço do neto e parece animado, rejuvenescido pela presença dele.
- Então ouvi dizer que tens uma canção nova para mim.
As provas do livro estão impressas num papel verde azulado com letras pretas. Ao ver o título e o nome do autor, Perowne desliza o braço por cima dos ombros da filha e aperta-os e Daisy chega-se mais para ele, na tentativa de ver o livro através dos olhos dele. Ele vê-o através dos dela e tenta imaginar o seu entusiasmo. Quando tinha a idade dela era um aluno marrão do quinto ano de Medicina, mergulhado num universo de nomes em latim e de factos materiais, muito longe do mundo dela. Com a mão que está livre volta a página e lêem os dois em conjunto as três palavras, desta vez rodeadas por um rectângulo de duas linhas, My Saucy Bark, Daisy Perowne, e, ao fundo da página, o nome da editora, seguido por Londres, Boston. O barco dela, seja qual for o seu tamanho, atravessará as correntes transatlânticas. Theo está a dizer qualquer coisa e Henry levanta os olhos.
- Papá. Papá! A canção. O que é que achaste? Quando os filhos eram pequenos preocupava-se em
fazer uma distribuição equitativa do orgulho. Como é grande o sucesso dos seus filhos! Deviam ter falado mais cedo da canção, quando estava sozinho com Grammaticus.
Mas Henry estava a precisar daquele meio minuto de divagação e pensamento positivo.
- Fiquei fascinado - diz. E, para surpresa de todos, vira a cabeça para o tecto e canta com uma precisão aceitável: - Let me take you there, My city square, city square.
Theo tira um CD do bolso do casaco e dá-o ao avô.
- Fizemos uma gravação hoje à tarde. Não está perfeita, mas dá-lhe uma ideia.
Henry volta a concentrar a sua atenção na filha.
- Gosto deste «Londres, Boston». Tem muita classe. - Percorre as pequenas letras maiúsculas com o dedo. Na página seguinte lê com alívio a dedicatória: Para John Grammaticus.
Com uma súbita angústia, Daisy segreda-lhe ao ouvido:
- Não sei se fiz bem. Devia tê-lo dedicado a ti e à mãe. Não sabia o que havia de fazer.
Ele volta a apertá-la contra si e murmura:
- Fizeste exactamente o que devias ter feito.
- Não sei. Ainda estou a tempo de mudar.
- Foi ele que te iniciou. Faz todo o sentido. Vai ficar muito feliz. Estamos todos muito felizes. Fizeste bem. - Depois, para o caso de haver algum ressentimento na sua voz, acrescenta: - E vai haver mais livros. Podes dar a volta à família toda.
Só então se apercebe, pelo tremor do seu corpo aninhado contra o dele e pelo calor que dele emana, de que Daisy está a chorar. Afunda a cara no braço dele. Theo e o avô estão noutro lado da sala, ao pé dos CD, a falarem sobre um pianista boogie.
- Então, miúda - diz-lhe ao ouvido. - Que aconteceu, querida?
Ela chora ainda mais, sem fazer barulho, e abana a cabeça sem conseguir falar.
- Queres ir lá acima à biblioteca?
Daisy volta a abanar a cabeça e ele acaricia-lhe o cabelo e fica à espera.
Será infeliz no amor? Tenta resistir ao impulso de fazer especulações. Não se lembra de nenhum momento em especial da infância dela, mas é uma experiência vagamente familiar, se bem que de há muito tempo, esperar que ela recupere para então lhe contar o que está a fazê-la chorar. Sempre teve dificuldade em falar. Todos aqueles romances que leu em criança, sobretudo depois de o avô tomar a seu cargo a educação literária dela, a ensinaram a descrever com precisão os seus sentimentos. Henry recosta-se no sofá, abraçando paciente e ternamente a filha. Já não está a chorar, mas continua com a cabeça encostada ao ombro dele e de olhos fechados. O livro continua aberto no colo dele, na página da dedicatória. Atrás dele, Theo e o avô falam de discos e, como verdadeiros devotos, falam em murmúrio, impregnando a sala de um ambiente calmo. Grammaticus tem outro copo de gim na mão, talvez o terceiro, mas continua estranhamente sóbrio. Perowne sente um formigueiro no braço, no sítio onde a cabeça de Daisy está a fazer pressão. Olha ternamente para ela, para o pouco que consegue ver do seu rosto. À volta dos seus olhos não há qualquer traço, nem longínquo, de envelhecimento nem de experiência, apenas uma pele boa e limpa, ligeiramente avermelhada, como a periferia de uma ferida. As manifestações exteriores, os novos brinquedos do desenvolvimento sexual, obscurecem a realidade de uma infância que se afasta devagar. Daisy começou a ter os seios maiores e a ter período menstrual quando a sua cama ainda estava tão cheia de ursinhos e outras coisas do género que quase não sobrava espaço para ela. Depois foi uma primeira conta bancária, um curso universitário, uma carta de condução a esconderem essa criança que teimava em se manter e que só o pai ou a mãe conseguem reconhecer num adulto recente. Mas, ao vê-la agora, sabe que embora esteja aninhada contra ele aquele gesto já não é inocente. É provável que a mente dela esteja a rodopiar muito depressa, mais depressa do que a dele consegue seguir, em torno de um mosaico quebrado de acontecimentos recentes - vozes que se erguem, visões de ruas parisienses, uma mala aberta ou uma cama desfeita, qualquer coisa que está a deixá-la angustiada. Olha-se para uma cabeça, para um cabelo bonito, e não se pode fazer nada senão adivinhar.
Este segundo interlúdio de devaneio pode ter durado cinco minutos, talvez dez. A certa altura, quando a lógica dos seus pensamentos começa a desintegrar-se, fecha os olhos e deixa-se vaguear para trás e para baixo, uma sensação agradável onde surgem um rio lamacento e uns dedos desajeitados a desatar uma corda cheia de nós que é também um meio de converter moeda e transformar fins-de-semana em dias de trabalho. Mas, nesse momento de abandono, sabe que não deve dormir - tem convidados em casa e outras responsabilidades que não consegue identificar imediatamente. O som de Rosalind a abrir a porta da frente fá-lo dar um salto e olhar com expectativa por cima do ombro. Daisy também levanta um pouco a cabeça e Theo e Grammaticus interrompem a sua conversa. Há uma pausa anormalmente longa antes de ouvirem o barulho da porta a fechar-se. Perowne lembra-se de que a mulher pode vir carregada de sacos de compras ou de embrulhos, ou até de enormes processos para ver em casa, mas no momento em que vai levantar-se ela entra na sala. Vem devagar, hirta, aparentemente preocupada com o que irá encontrar. Traz a sua mala de pele castanha e está pálida, com o rosto terrivelmente tenso, como se umas mãos invisíveis estivessem a puxar-lhe a pele para trás, para as orelhas. Os olhos estão muito abertos e escuros, desesperados por comunicar o que os seus lábios, que se afastam e se tornam a fechar uma só vez, não conseguem dizer-lhes. Vêem-na parar e olhar para trás, para a porta por onde acabou de entrar. - Mamã? - chama Daisy.
Perowne liberta-se da filha e põe-se de pé. Apesar de Rosalind trazer um casaco de Inverno por cima do fato, tem a sensação de conseguir ver a sua pulsação acelerada, talvez por causa da sua respiração rápida e superficial. A família chama-a e todos começam a dirigir-se para ela, mas ela afasta-se deles e encosta-se à parede da sala. Avisa-os com os olhos, com um movimento furtivo da mão. Não é só medo que vêem na cara dela, mas também raiva, e talvez o lábio de cima retesado indique repugnância. Através da pequena fresta entre as dobradiças da porta e a porta propriamente dita, Perowne vê um vulto no átrio de entrada, não mais do que uma sombra, a hesitar e depois a afastar-se. Pela reacção de Rosalind, apercebem-se de que alguém vai entrar na sala antes de o verem entrar. Mas o vulto que Perowne está a ver no vestíbulo está parado, o que o leva a concluir muito antes dos outros que há duas pessoas estranhas lá em casa, e não uma.
Quando o homem entra na sala, Perowne reconhece imediatamente a roupa: o blusão de cabedal e o gorro de lã. Os dois homens sentados no banco estavam à espera da sua oportunidade. Pouco antes de se lembrar do nome, reconhece também a cara, o andar característico, os tremores nervosos ao aproximar-se, demasiado, de Rosalind. Em vez de se encolher perante ele, mantém a sua posição. Mas tem de desviar a cabeça para conseguir encontrar finalmente a palavra que tem estado a tentar dizer. Olha para o marido.
- Faca - diz, como se estivesse a falar apenas para ele. - Ele tem uma faca.
A mão direita de Baxter está enterrada no bolso do blusão. Observa a sala e as pessoas que nela se encontram com um sorriso fechado nos lábios, como uma pessoa cheia de vontade de contar uma anedota. Deve ter passado a tarde toda a sonhar com a sua entrada naquela casa. Com movimentos infinitesimais da cabeça, o seu olhar desloca-se de Theo e Grammaticus, que estão ao fundo da sala, para Daisy e finalmente para Perowne, que está à frente dela.
Claro que é lógico que Baxter esteja ali. Estupidamente, o único pensamento de Perowne é esse: claro. Faz sentido. Quase todos os elementos do seu dia estão ali reunidos; só falta a mãe e Jay Strauss com a sua raqueta de squash. Antes de Baxter falar, Perowne tenta ver a sala pelos olhos dele, como se isso pudesse ajudar a prever o grau de perturbação que se avizinha: duas garrafas de champanhe, o gim e as tigelas do limão e do gelo, o tecto alto que os minimiza, com os seus ornamentos, as gravuras de Bridget Riley que ladeiam o Hodgkin, os candeeiros com a sua luz ténue, o chão de madeira de cerejeira visível nos sítios onde não há carpetes, as pilhas desordenadas de livros austeros, as décadas de verniz na mesa thakat. A escala de retribuição pode ser grande. Perowne vê também a família através de Baxter: a rapariga e o velho não constituem problema; o rapaz é forte, mas não parece muito habilidoso. Quanto ao médico alto e magro, é a razão de Baxter estar ali. Claro. Como disse Theo, nas ruas há orgulho, e ali está ele, com uma faca escondida. Quando tudo pode acontecer, tudo é importante.
Henry está a três metros de Baxter. Quando Rosalind o avisou da faca, ficou parado a meio de um passo, numa posição instável. Agora, como uma criança a brincar ao «mamã dá licença», leva o pé que ficou atrás para junto do que está à frente e afasta-os. Com os olhos e um ligeiro aceno da cabeça, Rosalind pede-lhe que se afaste. Não sabe o que está para trás. Pensa que aqueles homens são ladrões e que o mais sensato é deixá-los levar o que quiserem e ter esperanças de que se vão embora. Também não sabe da doença. O encontro em University Street esteve todo o dia no seu pensamento, como uma nota sustentada no piano. Mas já quase se tinha esquecido de Baxter, obviamente não da sua existência, mas daquela realidade física agitada, do cheiro amargo a nicotina, da mão direita trémula, do ar amacacado, agora ainda mais vincado pelo gorro de lã.
Com um olhar, Baxter dá-lhe a entender que também o viu dar aquele passo, mas as suas palavras são:
- Quero os telemóveis todos fora dos bolsos e em cima da mesa.
Ao ver que ninguém se mexe, diz:
- Primeiro vocês, miúdos. - Depois para Rosalind: - Vá, diz-lhes.
- Daisy, Theo. Acho que é melhor fazerem o que ele está a dizer.
Há mais raiva do que medo na voz dela, e uma certa rebelião naquele «acho». As mãos de Daisy estão a tremer, e está a custar-lhe tirar o telefone do pequeno bolso da saia. Está a arfar de exasperação. Theo pousa o telefone em cima da mesa e vai ajudá-la; foi uma boa ideia, pensa o pai, pois leva Theo para junto dele. A mão direita de Baxter continua dentro do casaco. Se conseguir um momento concertado, estão em boa posição para o atacar.
Mas Baxter tem a mesma ideia.
- Põe o dela ao pé do teu e volta para onde estavas. Já. Lá para trás. Mais para trás.
Algures no escritório de Henry, numa gaveta cheia de lixo, está um spray de gás pimenta que comprou há muitos anos em Houston. Talvez ainda funcione. Lá em baixo na arrecadação, por entre o material de campismo e os brinquedos antigos, há um taco de basebol. Na cozinha há uma enorme variedade de facas e cutelos. Mas a ferida no esterno é a prova de que perderia qualquer confronto com facas em segundos.
- Agora o teu - diz Baxter, voltando-se para Rosalind. Ela troca um olhar com Henry, mete a mão no bolso
do casaco e pousa o telemóvel na palma da mão de Baxter.
- Agora tu.
- O meu está lá em cima a carregar.
- Não piores as coisas, merdoso - diz Baxter. - Estou a vê-lo.
A parte de cima do telefone é visível no bolso em curva das calças e o resto percebe-se pela protuberância da ganga.
- Pois está.
- Põe-no no chão e empurra-o para mim.
Para o encorajar, Baxter tira finalmente a faca do bolso. Pelo que Perowne consegue ver, parece-lhe uma faca de cozinha francesa antiquada, com um cabo de madeira cor-de-laranja e uma lâmina curva, sem brilho. Com cuidado para que todos os seus movimentos sejam lentos e totalmente desprovidos de surpresa, ajoelha-se e empurra o telemóvel para Baxter, que não o apanha. Em vez disso, grita:
- Ei, Nige. Podes entrar agora. Apanha os telemóveis. O tipo da cara de cavalo pára à porta, um pouco constrangido.
- Esta casa é grande como o caraças. - Quando vê Perowne diz: - Olha, o tarado do volante.
Enquanto o amigo está a juntar os telemóveis, Baxter diz:
- Então e ali o avozinho? Não me diga que eles ainda não lhe deram um telefone.
Grammaticus sai do canto onde tem estado e dá alguns passos na direcção dele. Na mão direita tem o copo vazio.
- Por acaso, não tenho. E se tivesse convidava-o a enfiá-lo pelo cu acima, seu cobarde.
- É teu pai? - pergunta Baxter a Henry.
Não é altura para estar a fazer distinções, por isso, acha que faz bem em dizer:
- É.
Mas enganou-se. Baxter atravessa a sala, curvado, com o seu passo incerto, e só pára para passar por detrás de Nigel. Segura a faca com firmeza, com a ponta para baixo.
- Isso não foi muito bonito, vindo de um velho aperaltado como você.
Sentindo a iminência de uma fatalidade, Perowne tenta interpor-se entre Baxter e Grammaticus, mas Nigel põe-se à sua frente, com um sorriso de desdém. Não vai ter tempo. Diz depressa:
- A sua guerra não é com ele.
Mas nesse momento Baxter já está à frente de Grammaticus e, embora Theo, adivinhando o que está para vir, estenda um braço para proteger o avô, a mão de Baxter descreve um arco à frente da cara do velhote. Ouvem o barulho suave de um osso a estalar, como um ramo verde a partir-se. Todos os Perowne soltam um «oh» ou um «não», mas os seus piores receios não se concretizam. Não foi a mão que estava a segurar a faca que atingiu Grammaticus. O seu nariz foi partido com os nós dos dedos da outra mão. As pernas sãs cedem, e começa a cair, mas Theo apanha-o, ajuda-o a baixar-se de modo a ficar de joelhos e tira-lhe o copo da mão. Sem um som. Sem dar ao seu atacante a satisfação de um gemido, Grammaticus tapa o rosto com as mãos. Vêem-se gotas de sangue junto ao relógio de pulso.
Henry apercebe-se subitamente de que até àquele momento tem estado envolto numa espécie de nevoeiro. Admirado, até cauteloso, mas não propriamente assustado, útil. Como lhe é habitual, tem estado a sonhar, com «atacar» Baxter com Theo, com sprays de gás pimenta, com tacos de basebol, com cutelos, só com fantasias. A verdade, agora demonstrada, é que Baxter é um caso especial, um homem convencido de que não tem futuro e de que por isso está livre de consequências. E isso é apenas o exterior. Dentro dele há perturbações únicas, a expressão individual da sua doença - impulsividade, falta de autodomínio, paranóia, variações de humor, momentos de depressão alternados com acessos súbitos de raiva. Algumas destas coisas, ou todas elas, ou mais ainda, tê-lo-ão ajudado, incitado, enquanto pensava na refega que tivera com Henry naquela manhã, e estarão agora a incitá-lo.
Ainda não há nenhuma deterioração intelectual óbvia - as emoções são a primeira coisa a desaparecer, e a seguir é a coordenação física. Qualquer pessoa com um número significativamente superior a quarenta repetições da sequência CAG no meio de um obscuro gene do cromossoma quatro é obrigada a partilhar aquele destino de uma forma específica. Está escrito. Não há nenhuma dose de amor, de medicamentos, de lições da Bíblia ou de clausura na prisão que possa curar Baxter ou desviá-lo do seu percurso. Está determinado por frágeis proteínas, mas podia estar gravado na pedra ou no aço temperado.
Rosalind e Daisy estão a dirigir-se para Grammaticus, para o sítio onde ele está ajoelhado. Theo, sem saber o que fazer, tem a mão pousada no ombro do avô. O caminho de Perowne continua bloqueado por Nigel. Só seria possível passar com uma luta física. Baxter, ainda com a faca na mão direita, afasta-se e, com um movimento nervoso e impreciso da mão esquerda, tira o gorro de lã e abre o fecho do blusão. Acende um cigarro, de forma desajeitada. Ao mesmo tempo que fuma brinca com a pega do fecho e olha para a cena em torno do homem que está no chão, apoiando o peso, de forma assimétrica, entre o pé esquerdo e o direito. Parece estar à espera para ver o que ele próprio fará a seguir.
Apesar de todos os argumentos redutores, Perowne não consegue convencer-se de que são apenas moléculas e genes defeituosos que estão a aterrorizar a sua família e que partiram o nariz do seu sogro. Perowne também é responsável. Humilhou Baxter na rua à frente dos seus capangas e fê-lo no momento em que ele começava a tomar consciência da sua doença. Naturalmente, Baxter está ali para salvar a sua reputação à frente de uma testemunha. Deve ter aliciado ou subornado Nigel. É uma patetice do rapaz fazer-se cúmplice dele. Baxter está a agir enquanto pode, pois deve saber o que o futuro lhe reserva. Nos próximos meses e anos, a atetose, aqueles movimentos involuntários e descontrolados, e a coreia - os tremores involuntários, os esgares, o encolher dos ombros e a flexão dos dedos das mãos e dos pés - tomarão conta dele, torná-lo-ão demasiado absurdo para andar na rua. Aquele tipo de criminalidade é para pessoas fisicamente sãs. A certa altura ficará preso à cama, a contorcer-se ou com alucinações, num hospital psiquiátrico, talvez inóspito, certamente desagradável, e será aí que a sua lenta degradação será tratada, se tiver sorte, com alguma eficiência. Agora, enquanto ainda consegue segurar uma faca, está ali para afirmar a sua dignidade e talvez até para configurar a forma como será lembrado. Pois foi, o merdoso do Mercedes cometeu um grande erro quando partiu o espelho do carro do velho Baxter. A história de Baxter a ser abandonado pelos seus homens, derrotado por um desconhecido que conseguiu ir-se embora ileso, tudo isso será esquecido.
E onde é que esse desconhecido tinha a cabeça, se conhecia a doença, se tinha visto os doentes dos seus colegas e até se tinha correspondido há alguns anos com um neuro-cirurgião de Los Angeles sobre um novo tipo de intervenção? A ideia era enxertar por um método estereotaxico em certas zonas do núcleo caudado e do putamen um cocktail de células estaminais de três fontes diferentes e tecido nervoso do doente. Nunca resultou, e Perowne também não se sentiu muito tentado por ele. Porque é que não conseguiu perceber que era perigoso humilhar um homem emocionalmente tão instável como Baxter? Porque queria evitar levar uma tareia e porque queria ir jogar squash. Usou e abusou da sua autoridade para evitar uma crise, e a forma como agiu conduziu-o a outra, muito pior. A responsabilidade é dele; há sangue de Grammaticus no chão, porque Baxter julga que o velhote é pai dele. Quis começar por fazer algo que desonrasse o filho.
Rosalind e Daisy estão debruçadas sobre Grammaticus com lenços de papel.
- Está tudo bem - diz ele, com uma voz abafada. - Já parti o nariz uma vez. Nos malditos degraus de uma biblioteca.
- Já viste? - diz Baxter, dirigindo-se a Nigel. - Já estamos aqui há tanto tempo e ainda não nos ofereceram uma bebida.
É uma oportunidade para se livrar de Nigel e se aproximar da mesa onde está o tabuleiro. Henry está desejoso de atrair Baxter para o lado da sala onde se encontra e de o afastar do grupo que está junto de Grammaticus. Só receia qualquer impulso de Rosalind ou de um dos seus filhos quando Baxter estiver perto dele. Perowne toca com o indicador numa das garrafas de champanhe, lança um olhar de interrogação a Baxter e fica à espera. Rosalind tem o braço por cima dos ombros de Daisy, e estão ambas a tratar de Grammaticus. Theo está perto delas, de olhos fixos no chão, evitando qualquer contacto visual com Baxter, que conseguia finalmente retirar a sua mão irrequieta do puxador do fecho. A faca regressou ao bolso.
- Dois gins, com gelo e limão - diz.
A vantagem de diminuir ainda mais a coordenação física de Baxter tem de ser sopesada com o risco de a sua desinibição o levar a fazer coisas ainda mais odiosas. É uma escolha, um cálculo que, apesar de aterrorizado, Perowne acha que consegue fazer. Inclina-se como um farmacêutico a preparar uma mezinha e enche dois copos de vinho até à borda com Tanqueray, juntando uma rodela de limão e um cubo de gelo a cada um. Passa um a Nigel e segura no que se destina a Baxter. A mesa está no caminho dele; para alívio de Henry, Baxter dá a volta ao sofá e à mesa para vir buscar o copo.
- Olhe - diz Perowne. - Para podermos discutir o que está a acontecer, estou preparado para reconhecer que agi mal hoje de manhã. Se quiser mandar arranjar o carro...
- Estiveste a pensar?
O copo não está estável nas mãos de Baxter e, quando se volta para piscar o olho a Nigel, entorna uma quantidade de gim.
Talvez seja o hábito de esconder a doença que o leva a estabilizar o copo levando-o aos lábios e despejando o seu conteúdo em quatro goladas iguais. Nesse pequeno espaço de tempo, Perowne pensa nos cabos telefónicos e se Baxter se terá dado ao trabalho de os cortar. Também há um botão de alarme junto à porta da frente e outro no quarto. Estará outra vez a fantasiar? Theo, Rosalind e Daisy estão a ajudar Grammaticus a levantar-se. Apesar de Perowne tentar, com um aceno da mão sub-reptício, que vão para o fundo da sala daquele lado, eles trazem o velhote para junto da lareira.
- Está com frio - diz Rosalind. - Precisa de se deitar. O seu plano foi ao ar. Estão outra vez todos juntos. Pelo menos Theo está mais à mão. Já decidiu que atacar Baxter é um sonho infantil. De certeza que Nigel tem uma arma. Está perante dois verdadeiros bandidos. Então, o que lhe resta? Vão ficar ali parados à espera que Baxter faça uso da faca? Henry sente-se oscilar sobre os pés, devido ao medo e à indecisão. Uma forte vontade de urinar está constantemente a intrometer-se nos seus pensamentos. Quer que Theo olhe para ele, mas sente que Rosalind deve saber qualquer coisa ou estar a ter uma ideia. A forma como lhe tocou pode querer dizer alguma coisa. Está mesmo por trás dele, a acomodar o pai no sofá. Daisy parece mais calma. Tratar do avô ajudou-a. Theo está de pé, de braços cruzados, ainda a olhar fixamente para o chão, talvez a fazer cálculos. Os seus braços têm um aspecto forte. Tanto talento numa sala, mas inútil, pois não há nenhum plano nem forma de o comunicar. Talvez tenha de agir sozinho, deitar Baxter ao chão e confiar que os outros virão ajudar. Continua a fantasiar. E Baxter está tão volátil, tão despreocupado, que as probabilidades de fazer mal se multiplicam. Estão ali todas as pessoas que ama, e tão vulneráveis. Os pensamentos de Henry vão-se anulando uns aos outros, vão-se afastando e voltando, sem que consiga dominá-los.
O mais adequado seria dar um murro com força na cara de Baxter e ter esperança de que Theo atacasse Nigel. Mas quando Henry se imagina prestes a agir e vê uma versão espectral de si próprio como guerreiro separar-se do seu corpo e atacar Baxter, a sua pulsação acelera tanto que fica tonto, fraco, instável. Nunca na vida bateu a ninguém na cara, nem sequer a uma criança. Só uma vez encostou uma faca a uma pele anestesiada num ambiente controlado e esterilizado. Não sabe, pura e simplesmente, agir com violência.
- Venha daí mais, senhorio.
De bom grado, pois este gesto é o seu único fragmento de uma estratégia, Perowne pega na garrafa de gim e enche outra vez o copo que Baxter lhe estende e o de Nigel. Quando o faz repara que Baxter está a olhar não para ele, mas para Daisy. A fixidez do seu olhar e aquele pequeno sorriso sustido provocam-lhe um calafrio que percorre toda a sua cabeça. Baxter entorna mais gim quando leva o copo à boca. Não desvia o olhar, nem mesmo quando pousa o copo na mesa. Henry fica desapontado ao ver que apenas deu um pequeno golo. Não disse quase nada desde a agressão a Grammaticus, e é provável que também não tenha nenhum plano; aquela visita é uma performance improvisada. A sua doença dá-lhe uma certa sensação de liberdade, mas provavelmente não sabe até onde é que está preparado para ir.
Estão todos à espera até que por fim Baxter diz:
- Então como é que te chamas?
- Meu Deus - atalha Rosalind muito depressa. - Se se aproximar dela, vai ter de me matar a mim primeiro.
Baxter volta a meter a mão direita no bolso.
- Está bem, pronto - diz ele num tom lamuriento. - Eu mato-te primeiro. - Depois volta a concentrar o mesmo olhar em Daisy e volta a perguntar, exactamente no mesmo tom: - Então, como é que te chamas?
Daisy afasta-se da mãe e responde-lhe. Theo descruza os braços. Nigel agita-se e aproxima-se mais dele.
Daisy está a olhar para Baxter, mas com uma expressão aterrorizada, com uma voz sem fôlego e com o peito a subir e a baixar rapidamente.
- Daisy? - O nome parece improvável nos lábios de Baxter. Parece um nome tolo, vulnerável, infantil. - E isso é diminutivo de quê?
- De nada.
- Menina Nada. - Baxter está a deslocar-se atrás do sofá onde Grammaticus está deitado e ao lado do qual se encontra Rosalind.
- Se se for embora agora e nunca mais voltar - diz-lhe Daisy -, dou-lhe a minha palavra de honra de que não telefonamos à polícia. Pode levar o que quiser. Mas, por favor, vá-se embora.
Ainda antes de ela ter acabado de falar, já Baxter e Nigel estão a rir à gargalhada. É um riso deliciado, não irónico, e Baxter ainda está a rir-se quando estende a mão para o braço de Rosalind e a puxa, fazendo-a ficar sentada no sofá junto dos pés de Grammaticus. Perowne e Theo fazem menção de avançar para ele. Quando vê a faca, Daisy dá um pequeno grito abafado. Baxter está a segurá-la com a mão direita, apoiada ao de leve no ombro de Rosalind, que olha rigidamente para a frente.
Baxter diz a Perowne e a Theo:
- Vocês os dois lá para trás, para o fundo da sala. Vá. Lá para o fundo. Fica de olho nele, Nige.
A distância entre a mão de Baxter e a carótida de Rosalind é inferior a dez centímetros. Nigel tenta empurrar Perowne e Theo para o canto mais distante da sala, mas eles conseguem afastar-se dele e ir para cantos diagonalmente opostos da sala, a uma distância de três a quatro metros de Baxter, Theo ao pé da lareira e o pai junto a uma das três janelas altas.
Henry tenta afastar não só o pânico, mas também um tom de súplica da sua voz. Quer transmitir a imagem de um homem razoável. Só em parte o consegue.
O seu ritmo cardíaco torna a sua voz fraca e irregular; sente os lábios e a língua como se estivessem inchados.
- Ouça, Baxter. A sua discussão foi comigo. A Daisy tem razão. Pode levar o que quiser. Nós não faremos nada. A alternativa para si será uma prisão psiquiátrica. E tem muito mais tempo do que pensa.
- Vai à merda - diz Baxter, sem voltar a cabeça. Mas Perowne continua:
- Depois de termos estado a falar hoje de manhã contactei com um colega. Há uma nova intervenção que está a ser feita nos Estados Unidos, associada a um novo fármaco, que ainda não está no mercado, mas de que já dispomos para ensaios. Os primeiros resultados obtidos em Chicago são espantosos. Mais de oitenta por cento dos doentes estão em remissão. Vai iniciar-se o ensaio com vinte e cinco doentes cá em Londres no mês que vem. Posso inclui-lo.
- De que é que ele está a falar? - pergunta Nigel. Baxter não responde, mas há uma tensão, uma súbita
imobilidade nos seus ombros que sugere que está a pensar.
- Estás a mentir - diz por fim, mas com uma falta de convicção que encoraja Perowne a continuar.
- Estão a utilizar a interferência de RNA de que falámos hoje de manhã. O projecto avançou mais depressa do que alguém poderia supor.
Está tentado. Henry tem a certeza de que está tentado.
- Não é possível - diz Baxter. - Sei que não é possível. - Quer convencer-se disso ao dizê-lo.
- Eu pensava o mesmo - diz Henry calmamente. - Mas afinal parece que é possível. O ensaio começa no dia vinte e três de Março. Estive a falar com um colega hoje à tarde.
Com um assomo de agitação, Baxter impede-o de continuar.
- Estás a mentir - diz outra vez, e depois mais alto, quase a gritar, protegendo-se contra a tentação da esperança. - Estás a mentir, e é melhor calares-te. Olha para a minha mão.
- A mão que empunha a faca aproxima-se mais da garganta de Rosalind. Mas Perowne não pára.
- Garanto-lhe que não estou. Tenho todos os dados lá em cima no meu escritório. Estive a imprimi-los hoje à tarde. Pode ir lá acima comigo e...
É abruptamente interrompido por Theo:
- Pára com isso, pai! Pára de falar. Pára com essa merda se não ele...
E tem razão. Baxter tem a lâmina encostada ao pescoço de Rosalind, que está sentada no sofá, muito direita, com as mãos a apertar os joelhos, o rosto sem expressão e o olhar fixo à sua frente. Só um tremor nos ombros mostra o seu terror. A sala está em silêncio. Grammaticus, do outro lado do sofá, tirou finalmente as mãos da cara. O sangue coagulado por cima do seu lábio superior aumenta a sua expressão de horror e incredulidade. Daisy está de pé, junto ao braço do sofá onde o avô tem a cabeça apoiada. Está qualquer coisa prestes a explodir dentro dela, um grito ou um soluço, e o esforço de a reprimir escurece o tom da sua pele. Theo, apesar dos gritos de aviso, aproximou-se um pouco mais deles. Os seus braços estão inutilmente caídos ao lado do corpo. Tal como o pai, não consegue tirar os olhos da mão de Baxter. Perowne observa-o e tenta convencer-se de que o silêncio de Baxter significa que está a debater-se com a tentação dos ensaios do medicamento, da nova intervenção.
Vindo da rua, ouve-se o som de um helicóptero, talvez a vigiar a dispersão da manifestação. Há também uma vozearia alegre e passos na rua, quando um grupo de amigos entusiasmados, talvez estudantes estrangeiros, dá a volta à praça e se encaminha para Charlotte Street, onde os restaurantes e bares devem estar a ficar cheios. O centro de Londres prepara-se para mais uma noite de sábado.
- Bem, isso não interessa. Eu estava era a querer ter uma conversa com esta jovem. A Menina Nada.
Nigel, que está no meio da sala com um olhar mal-intencionado, com os lábios húmidos e o rosto cavalar subitamente animado, diz num tom insinuante:
- Sabes o que é que eu estou a pensar?
- Sei, Nige. E estava a pensar o mesmo. - Depois diz para Daisy: - Olha bem para a minha mão...
- Não - diz Daisy muito depressa. - Mamã. Não.
- Cala-te. Ainda não acabei. Olha bem para a minha mão e ouve. Está bem? Se fizeres merda, estão desgraçados. Ouve bem. Tira a roupa. Vá. A roupa toda.
- Oh, meu Deus - diz Grammaticus em voz baixa. Theo grita do outro lado da sala:
- Pai?
- Não - diz Henry, abanando a cabeça. - Deixa-te ficar onde estás.
- Muito bem - exclama Baxter, dirigindo-se não a Theo, mas a Daisy, que olha para ele incrédula, a tremer e a abanar vagamente a cabeça. O medo dela está a excitá-lo. Todo o seu corpo se agita e estremece.
Daisy consegue dizer num sussurro:
- Não consigo. Por favor... Não consigo.
- Consegues sim, querida.
Com a ponta da faca, Baxter faz um golpe com uns trinta centímetros no sofá, mesmo por cima da cabeça de Rosalind. Ficam a olhar para aquela ferida, aquele vergão, que incha a todo o seu comprimento à medida que o estofo branco amarelado vai surgindo, como gordura subcutânea.
- Despacha-te lá com isso - resmunga Nigel.
A mão de Baxter e a faca estão outra vez no ombro de Rosalind. Daisy olha para o pai. O que há-de fazer? Mas ele não sabe o que há-de dizer-lhe. Dobra-se para tirar as botas, mas não consegue abrir o fecho, os seus dedos parecem demasiado inábeis. Com um grito de frustração, assenta um joelho no chão e puxa o fecho até que ele acaba por ceder. Senta-se no chão, como uma criança a despir-se e tira as botas. Ainda sentada, tenta desajeitadamente abrir o fecho da saia. Ao despir-se, encolhe-se de forma abjecta para si própria. Rosalind está a tremer violentamente. Baxter debruça-se sobre o seu ombro e tenta estabilizar a mão com a faca encostada ao pescoço dela. Mas Rosalind não tira os olhos de Daisy, ao contrário de Theo, que parece tão horrorizado que não consegue olhar para a irmã. Continua a olhar fixamente para o chão. Também Grammaticus desviou a cara. Daisy está agora a ser mais rápida. Tira as meias com um sopro de impaciência, por pouco não as rasga, e depois atira-as para o chão. Está em pânico. Arranca a camisola preta e atira-a também para o chão. Está em roupa interior - branca, imaculadamente lavada para a viagem de Paris-, mas não pára. Num movimento ininterrupto, desaperta o soutien e tira as cuecas com o polegar, deixando-as cair-lhe das mãos. Só então olha de relance para a mãe, mas apenas por um instante. Está feito. De cabeça curvada, Daisy está de pé, com os braços caídos ao lado do corpo, sem conseguir olhar para ninguém.
Perowne não via a filha nua há mais de doze anos. Apesar das mudanças, lembra-se daquele corpo de quando lhe dava banho e, apesar do medo, ou talvez por causa dele, é acima de tudo a criança vulnerável que vê à sua frente. Mas sabe que aquela mulher jovem estará profundamente atenta ao que os seus pais estão a descobrir naquele preciso momento, pela curva pronunciada e compacta do seu ventre e pela tumefacção dos seus pequenos seios. Como é que ele não adivinhou mais cedo? Faz todo o sentido; as suas variações de humor, a euforia, o facto de ter chorado por causa da dedicatória. Deve estar no princípio do segundo trimestre. Mas agora não há tempo para pensar nisso. Baxter não mudou de posição. Rosalind também tem os joelhos a tremer. A lâmina impede-a de voltar a cabeça para o marido, que acha que ela está a esforçar-se por cruzar o olhar com o dele.
Daisy está à frente deles, e Nigel diz:
- Credo. Está prenha. É toda tua, amigo.
- Cala-te - ordena Baxter.
Sem ninguém a vê-lo, Perowne deu meio passo para ele.
- E esta, hein? Vejam só - diz Baxter de repente. Está a apontar com a outra mão para o livro de Daisy. Pode estar a esconder a sua confusão ou constrangimento perante uma mulher grávida ou a procurar outras formas de aumentar a humilhação. São dois jovens imaturos, provavelmente sem muita experiência sexual. A condição de Daisy deixa-os embaraçados. Talvez até lhes repugne. É uma esperança. Baxter forçou as coisas até àquele ponto e agora não sabe o que há-de fazer. Nessa altura viu as provas do livro no sofá do outro lado e aproveitou a oportunidade.
- Passa-me isso, Nige.
Quando Nigel se desloca para apanhar o livro, Henry aproxima-se um pouco mais. Theo faz o mesmo.
- My Saucy Bark. Pela atrevida da Daisy Perowne. - Baxter folheia as páginas com a mão esquerda. - Não me disseste que escrevias poemas. Foi tudo escrito por ti?
- Foi.
- Deves ser muito esperta. Estende o livro para ela.
- Lê um. Lê alto o teu melhor poema. Vá lá. Vamos lá ouvir um poema.
Quando pega no livro, Daisy implora-lhe:
- Faço tudo o que quiser. Tudo. Mas por favor tire a faca do pescoço dela.
- Ouviste? - Nigel dá uma risadinha. - Ela diz que faz tudo. Anda daí, atrevida.
- Desculpa, mas não - diz Baxter a Daisy, como se estivesse tão desgostoso como todos os outros. - Podem querer fazer-me alguma surpresa. - Olha por cima do ombro para Perowne e pisca-lhe o olho.
O livro treme nas mãos de Daisy, que o abre ao acaso. Inspira e está prestes a começar, quando Nigel diz:
- Lê o mais porco. Uma coisa mesmo ordinária. Ao ouvir isto, a sua resolução desaparece por completo.
Fecha o livro.
- Não consigo - geme. - Não consigo.
- Vais conseguir - diz Baxter. - Olha para a minha mão. É isso que queres?
Grammaticus diz-lhe em voz baixa.
- Ouve, Daisy. Lê aquele que costumavas ler-me.
- Cala essa merda dessa boca, avô.
Daisy olhou para Grammaticus sem expressão quando ele falou, mas agora parece ter compreendido. Abre outra vez o livro e vira as páginas à procura do poema e, quando o encontra, olha de relance para o avô e começa a ler. A sua voz é rouca e débil. A mão treme tanto que quase não consegue segurar o livro e acaba por segurá-lo também com a outra mão.
- Nada disso - diz Baxter. - Começa outra vez. Não ouvi uma palavra. Nadinha.
E então Daisy recomeça, mas de forma apenas ligeiramente mais audível. Henry pegou várias vezes no livro dela, mas há poemas que só leu uma vez; daquele que ela está a ler só tem uma vaga recordação. Os versos surpreendem-no; é óbvio que não leu com atenção suficiente. São invulgarmente meditativos, melífluos e propositadamente arcaicos. Ela recuou para outro século. Agora, no estado de terror em que se encontra, escapa-lhe ou interpreta mal muito o que ouve, mas, quando a voz de Daisy se eleva um pouco e descobre os rudimentos de um ritmo calmo, Henry sente-se deslizar através das palavras para aquilo que elas descrevem. Vê Daisy numa varanda voltada para uma praia sob o luar de uma noite de Verão; o mar está calmo e a maré cheia, o ar perfumado, e há um brilho final do pôr do Sol. Chama o amante, sem dúvida o homem que virá a ser pai do seu filho, para que venha ver, ou melhor, ouvir a paisagem. Perowne vê um jovem de pele macia, de tronco nu, ao lado de Daisy. Ouvem em conjunto as ondas a baterem nos seixos e um som de uma tristeza profunda que se estende até um passado remoto. Ela pensa que houve outros tempos, mesmo que muito distantes, em que a Terra era nova e o mar consolador, e em que nada se interpunha entre o homem e Deus. Mas naquela noite os amantes ouvem apenas tristeza e perda no barulho das ondas a rebentarem e a afastarem-se da areia. Volta-se para ele e, antes de se beijarem, diz-lhe que têm de se amar um ao outro e ser fiéis, principalmente agora que vão ter um filho, e que não há paz nem certezas, e que os exércitos estão no deserto prontos a combater.
Daisy levanta os olhos. Sem conseguir controlar os espasmos musculares dos joelhos, Rosalind continua a olhar fixamente para a filha. Todos os outros estão a olhar para Baxter, à espera. Baxter está dobrado, com o peso apoiado sobre as costas do sofá. Apesar de a sua mão direita continuar junto do pescoço de Rosalind, está a agarrar a faca com menos firmeza e a sua postura, o ângulo singular da sua coluna, sugere que talvez se sinta menos determinado. Será possível, enquadrar-se-á nos limites do real, que um simples poema de Daisy provoque uma variação de humor?
Por fim levanta a cabeça e endireita-se um pouco, e depois diz abruptamente, com alguma petulância:
- Lê outra vez.
Ela volta uma página para trás e recomeça, com mais confiança, tentando o tom sedutor, variado, de alguém que conta uma história a uma criança:
- O mar está calmo esta noite. A maré está cheia, o luar intenso. Na costa francesa uma luz brilha e desaparece...
Da primeira vez, Henry não tinha ouvido a referência às falésias de Inglaterra «que brilham ao longe na baía tranquila». Desta vez parece não ser uma varanda, mas uma janela aberta; o jovem pai da criança desapareceu. Em vez disso, Henry vê Baxter sozinho, de cotovelos no parapeito da janela, a ouvir as ondas «trazerem uma eterna nota de tristeza». Não foi toda a antiguidade, mas apenas Sófocles que associou aquele som à «confusa enchente e vazante da miséria humana». Mesmo no estado em que se encontra, Henry soçobra ao ouvir a referência a «mar de fé» e a um paraíso reluzente de integridade perdido num passado distante. Depois, mais uma vez, é através dos ouvidos de Baxter que escuta «a melancolia do mar, o seu longo rugido ao recuar, o sopro do vento da noite sobre os seixos sombrios e nus do mundo». Ecoa como uma maldição musical. A súplica da lealdade de um para com o outro parece impotente perante a ausência de alegria, amor, luz, paz ou «auxílio para a dor». Mesmo num mundo «onde exércitos ignorantes se defrontam durante a noite», na segunda leitura, Henry não descobre qualquer referência ao deserto. Chega à conclusão de que a melodia do poema está em desacordo com o seu pessimismo.
É difícil dizer, porque o seu rosto nunca está imóvel, mas Baxter parece subitamente entusiasmado. A sua mão direita afastou-se do ombro de Rosalind e a faca já está outra vez no bolso. O seu olhar continua fixo em Daisy, que consegue, com autocontrolo e dissimulação, transformar o alívio que sente numa expressão de neutralidade, apenas traída pelo tremor do lábio inferior quando devolve esse olhar. Os seus braços estão caídos, indefesos, ao lado do corpo, com o livro a balançar entre os dedos. Grammaticus agarra a mão de Rosalind. O descontentamento de Nigel por ter de ouvir pela segunda vez o poema só a custo desapareceu do seu rosto.
- Eu seguro a faca enquanto tu tratas do assunto - diz a Baxter.
Henry receia que aquela deixa de Nigel, a lembrança do objectivo da sua visita, possa provocar outra variação de humor, uma reversão.
Mas Baxter quebra o silêncio e diz, muito excitado:
- Escreveste isso. Escreveste isso.
É uma afirmação, não uma pergunta. Daisy olha fixamente para ele, à espera.
- Escreveste isso - repete Baxter. E depois, apressadamente: - É lindo. E foste tu que escreveste isso.
Daisy não se atreve a dizer nada.
- Lembra-me o sítio onde eu cresci.
Henry não se lembra nem está interessado em saber onde foi. Quer chegar a Daisy para a proteger, quer chegar a Rosalind, mas tem medo enquanto Baxter estiver ao pé dela. O seu estado de espírito é muito delicado, facilmente perturbável. É importante não o surpreender nem o ameaçar.
- Ei, Baxter - diz Nigel, inclinando a cabeça para Daisy com um sorriso lúbrico.
- Não. Mudei de ideias.
- O quê? És um merdas.
- Porque é que não te vestes? - diz Baxter a Daisy, como se aquela nudez tivesse sido uma estranha ideia dela.
Por um momento, Daisy não se mexe, e ficam a olhar para ela.
- Não acredito - diz Nigel. - Tanto trabalho para nada.
Daisy baixa-se para apanhar a camisola e a saia e começa a vestir-se.
- Como é que pudeste pensar numa coisa dessas? Quer dizer, escrever isso - diz Baxter ansiosamente. E depois diz outra vez e continua a repetir: - Escreveste isso!
Ela ignora-o. Os seus movimentos são abruptos ao vestir-se, pode até haver raiva na forma como afasta com um pontapé a roupa interior, que deixa no chão. Quer cobrir o corpo e ir para junto da mãe, nada mais lhe interessa. Baxter não descobre nada de extraordinário na transformação do seu papel, de deus do terror para admirador boquiaberto. Ou para criança excitada. Henry está a tentar interceptar o olhar da filha para a avisar em silêncio da necessidade de continuar a não contrariar Baxter. Mas agora ela e a mãe estão a abraçar-se. Daisy está ajoelhada no chão, meio recostada sobre o colo de Rosalind, com os braços à volta do seu pescoço, e estão a segredar e a aconchegar-se uma à outra, indiferentes ao facto de Baxter estar atrás delas, a fazer avanços frenéticos com o corpo. Está a ficar maníaco, a tropeçar nas palavras e a mudar constantemente o peso do corpo de um pé para o outro. Daisy deixou o livro cair para cima da mesa quando foi ter com Rosalind. Baxter baixa-se e apanha-o e abana-o no ar, como se quisesse fazer cair alguma coisa lá de dentro.
- Vou levar isto - grita. - Disseste que eu podia levar o que quisesse. Por isso, levo isto. Pode ser? - Está a falar junto à nuca de Daisy.
- Merda! - exclama Nigel, num tom sibilante.
Faz parte da essência de uma mente em degenerescência perder periodicamente o sentido de um eu contínuo e por isso qualquer preocupação com o que os outros possam pensar sobre a falta de continuidade. Baxter esqueceu-se de que obrigou Daisy a despir-se e ameaçou Rosalind. Essa recordação foi obliterada por sentimentos fortes. No súbito acesso emocional da sua alteração de humor, passou a habitar a área limitada do foco de luz do presente. É este o momento certo para o atacar. Henry olha para Theo, que faz um lento e discreto sinal de concordância com a cabeça. Grammaticus está sentado no sofá, com as mãos nos ombros da filha e da neta. Rosalind e Daisy continuam abraçadas. É difícil acreditar que julguem que estão fora de perigo ou que estarão mais seguras se ignorarem Baxter. Henry chega à conclusão de que é a gravidez, a sua inquestionável existência. Está na hora de agir.
Baxter está quase a gritar:
- Não levo mais nada, ouviste? Só isto. É a única coisa que quero. - Agarra o livro como uma criança ansiosa, com medo que lhe tirem uma guloseima.
Henry olha outra vez para Theo, que se aproximou mais e parece tenso, pronto a dar um salto. Nigel está no meio deles, a observá-los, mas está desinteressado, e é provável que não faça nada. Além disso, Perowne está mais perto de Baxter e de certeza que conseguirá alcançá-lo antes de Nigel poder intervir. Mais uma vez, Perowne sente o coração a latejar nos ouvidos e pensa numa infinidade de maneiras de as coisas poderem correr mal. Olha para Theo e decide contar mentalmente até três e depois avançar, custe o que custar. Um...
Baxter volta-se de repente. Está a humedecer os lábios, que esboçam um sorriso beatífico, e os seus olhos estão brilhantes. A voz tem um tom meigo e treme de exaltação.
- Quero entrar para esse ensaio. Sei tudo sobre isso. Têm querido manter isso no segredo dos deuses, mas eu sei tudo.
- Foda-se - diz Nigel.
- Pois é - concorda Perowne, mantendo um tom inflexível na voz.
- Quero ver essa coisa.
- Pois, o ensaio americano. Está lá em cima no meu escritório.
Já quase esquecera a sua mentira. Volta a olhar para Theo, que parece querer dizer-lhe com os olhos que continue com o seu plano. Só não sabe que não há ensaio nenhum. E o preço de desapontar Baxter será elevado.
Baxter meteu o livro no bolso e tirou a faca, que acena à frente do rosto de Perowne.
- Vai andando, vai andando. Eu vou atrás de ti. Está tão excitado que seria capaz de esfaquear alguém
no meio de tanta alegria. Está a balbuciar as palavras.
- O ensaio. Mostra-me tudo. Tudo, tudo...
Henry desejaria aproximar-se de Rosalind, tocar-lhe na mão, falar com ela, beijá-la. Qualquer contacto, por breve que fosse, seria suficiente, mas Baxter está à frente dele, com aquele estranho cheiro metálico no seu hálito.
Inicialmente, a sua ideia era atraí-lo para junto dele e fazê-lo afastar-se de Nigel, mas não há razão para continuar com esse plano. Por isso, lança um último olhar desesperado a Rosalind, volta-se e dirige-se lentamente para a porta.
- Fica de olho neles - diz Baxter a Nigel. - Todos eles são perigosos.
Atravessa o vestíbulo atrás de Perowne e começam a subir as escadas, com os seus passos a baterem ao mesmo tempo na pedra. Henry tenta lembrar-se se terá alguns papéis em cima da secretária com que possa enganá-lo de forma plausível. Não se lembra, e os seus pensamentos estão mais confusos devido à necessidade de estabelecer um plano. Tem um pisa-papéis que pode atirar-lhe e também um enorme agrafador. A cadeira ortopédica de costas altas deve ser demasiado pesada para a levantar do chão. Nem sequer tem uma faca de papel. Baxter está pertíssimo dele. Talvez baste um pontapé para trás.
- Sei que não querem que se saiba - repete Baxter. - Só se interessam pelos amigos, não é?
Já vão a meio das escadas. Mesmo que o ensaio existisse, o que poderia levar Baxter a acreditar que aquele médico manteria a palavra em vez de chamar a polícia? Porque está igualmente excitado e desesperado. Porque as suas emoções são muito fortes e a sua capacidade de discernimento está a desaparecer. Por causa da degradação do seu núcleo caudado e do putamen, e das regiões frontal e temporal. Mas nada disso é relevante. Perowne precisa de um plano e os seus pensamentos estão a ser demasiado rápidos, demasiado profusos - e ele e Baxter estão já no patamar junto à porta do escritório, dominado pela enorme janela que dá para a rua, mesmo no sítio onde esta se cruza com a praça.
Henry hesita por um momento à entrada, na esperança de ver qualquer coisa que possa utilizar. Os candeeiros da secretária têm a base pesada, mas o emaranhado dos fios iria restringir o seu movimento. Numa prateleira está uma estatueta de pedra, mas teria de ir buscá-la em bicos dos pés. Tirando isso, o escritório parece um museu, um santuário, dedicado a uma outra época, bem mais despreocupada - no sofá, coberto por um tapete Bukhara, está a raqueta de squash, que ali deixou quando veio ver a lista para segunda-feira. Na mesa, junto à parede, o screen saver mostra imagens do telescópio Hubble obtidas num espaço longínquo, nuvens de gás a anos-luz de distância, estrelas cadentes e gigantes vermelhas que não conseguem fazer esquecer as preocupações terrenas. Na secretária, junto à janela, há pilhas de papéis, talvez a única esperança.
- Onde é que está? Mostra-me.
A sua ânsia e confiança são infantis, mas está a acenar a faca. Por razões diferentes, ambos estão desejosos de encontrar as provas de um ensaio clínico e de um convite para que Baxter se junte a um grupo privilegiado de doentes. Henry aproxima-se da mesa que está junto da janela, sobre a qual se encontram duas pilhas, uma de jornais e a outra de documentos impressos. Olha para baixo e vê uma informação sobre um novo método de fusão espinal e uma nova técnica para abrir carótidas com bloqueios, e ainda um artigo céptico, lançando algumas dúvidas sobre a lesão cirúrgica do globus pallidus no tratamento da doença de Parkinson. Escolhe este último e levanta-o. Não faz ideia do que está a fazer para lá de adiar o momento. A sua família está lá em baixo, e Henry sente-se muito só.
- Isto descreve a estrutura - começa a dizer. A sua voz fraqueja, como a de alguém que está a mentir, mas não há nada que possa fazer a não ser continuar a falar. - A questão é esta. O globus pallidus, o globo pálido, é uma coisa maravilhosa, no fundo do gânglio basal, uma das partes mais antigas do corpo estriado, e dividido em dois segmentos que...
Mas Baxter já não está a prestar-lhe atenção. Voltou a cabeça para ouvir. Do andar de baixo chega-lhes o som de passos pesados a atravessarem o vestíbulo e depois da porta da rua a fechar-se. Terá sido abandonado pela segunda vez num só dia? Sai do escritório a correr para o patamar. Henry pousa o artigo e vai atrás dele. Vêem Theo a dirigir-se para eles, subindo a escada a três e três, balançando os braços e com os dentes arreganhados com o esforço. Faz um som imperceptível, que parece de comando. Henry já está a mover-se. Baxter afasta a faca. Henry agarra-lhe o pulso com as duas mãos e prende-lhe o braço. Finalmente o contacto. Um instante depois, Theo inclina-se para a frente antes de subir os dois últimos degraus e agarra-o pela gola do blusão de cabedal e, com um movimento forte do corpo, fá-lo perder o equilíbrio. Ao mesmo tempo, Perowne, ainda a agarrá-lo pelo braço, empurra-o com o ombro, e juntos atiram-no pela escada abaixo.
Baxter cai de costas, com os braços estendidos, ainda com a faca na mão direita. Há um momento, que parece desabrochar e expandir-se abundantemente, em que tudo fica em silêncio e imóvel, quando Baxter vai no ar, suspenso no tempo, a olhar directamente para Henry com uma expressão não tanto de terror como de frustração. Henry tem a sensação de ver naqueles olhos castanhos esbugalhados uma dolorosa acusação de traição. Ele, Henry Perowne, tem tanta coisa - o trabalho, dinheiro, estatuto, a casa, acima de tudo a família, o filho belo e saudável com as suas mãos fortes de guitarrista que veio em seu auxílio, a filha, a bela poeta, inatingível mesmo quando nua, o sogro famoso, a mulher, inteligente e dedicada; e não fez nada, não deu nada a Baxter, que tem tão poucas coisas que não tenham sido destruídas pelo seu gene defeituoso e que está prestes a ter ainda menos.
O lanço de escadas antes da curva é longo e os degraus são de pedra dura. Com um som repetido, como uma campainha, o pé esquerdo de Baxter vai espreitando por entre as grades da escada, até que a sua cabeça bate na maior laje do patamar e depois na parede, a poucos centímetros do rodapé.
Estão em diferentes graus de estado de choque e ficam assim por várias horas depois de os polícias se terem ido embora e de os paramédicos terem levado Baxter na ambulância. Os acessos súbitos de um desejo urgente de relembrar o que aconteceu, por vezes acompanhados de lágrimas, são interrompidos por silêncios entorpecidos. Ninguém quer estar sozinho e por isso ficam juntos na sala, como que sitiados numa sala de espera, uma terra de ninguém que separa o momento difícil por que passaram do regresso à vida normal. Com a capacidade de resistência própria dos jovens, Theo e Daisy vão à cozinha e voltam com garrafas de vinho tinto, água mineral e uma tigela de cajus salgados, e também com gelo e um pano para fazerem uma compressa para o nariz do avô.
Mas o álcool, apesar de muito saboroso, não penetra. E Henry acaba por preferir a água. O que satisfaz as suas necessidades é o contacto. Sentam-se juntos, dão as mãos, abraçam-se. Quando o agente da polícia se foi embora disse que de manhã os seus colegas viriam registar os seus depoimentos individuais e por isso não deveriam discutir nem comparar os seus testemunhos. Claro que é uma recomendação inútil, e nem sequer lhes passa pela cabeça cumpri-la. Não há mais nada a fazer senão falar, ficar em silêncio e depois voltar a falar. Têm a sensação de estar a fazer uma análise cuidadosa dos terríveis acontecimentos daquela noite. Mas é mais simples: é uma reconstituição que para eles é vital. A única coisa que fazem é descrever: o momento em que entraram na sala, quando ele se voltou, quando o da cara de cavalo se foi embora... Querem ver tudo outra vez, mas de outra perspectiva, e quando acabam sabem que foi tudo verdade e sentem que com essas comparações precisas de sentimentos e observações estão a libertar-se de um pesadelo pessoal e a voltar à teia de relações sociais e familiares sem a qual não são nada. Foram atacados e dominados por intrusos porque não conseguiram comunicar e agir em conjunto; agora, pelo menos, podem fazê-lo.
Perowne vai tratar do nariz do sogro. John recusa-se a ir às urgências nessa noite e ninguém tenta convencê-lo. O inchaço torna o diagnóstico difícil, mas o nariz não se desviou da posição central e Perowne acha que deve ser uma pequena fractura, o que é muito melhor que uma rotura das cartilagens. Durante grande parte deste tempo, Henry esteve sentado ao pé de Rosalind. Mostra-lhes uma mancha vermelha e um pequeno corte no pescoço e descreve o momento em que deixou de estar aterrorizada e ficou indiferente ao que lhe acontecesse.
- Senti-me a flutuar para longe - diz Rosalind. - Era como se estivesse a ver-nos a todos, incluindo a mim própria, de um canto da sala, encostada ao tecto. E pensei que se tivesse de acontecer não ia sentir nada. Não me interessava.
- Mas nós íamos sentir - diz Theo, e todos se riem com sonoras gargalhadas, talvez demasiado sonoras.
Daisy fala com uma jovialidade frágil do momento em que se despiu à frente de Baxter.
- Tentei fingir que tinha dez anos, que estava na escola a mudar de roupa para ir jogar hóquei. Odiava a professora de ginástica e não gostava nada de me despir à frente dela. O facto de pensar nela ajudou-me. Depois imaginei que estava no jardim do castelo a recitar para o avô.
O assunto de que não se fala é da gravidez de Daisy. Talvez seja cedo de mais, pensa Henry, pois ela não se refere a isso, nem Rosalind.
Grammaticus diz por detrás da compressa:
- Sabem, sei que vai parecer uma loucura, mas houve um momento, depois de a Daisy ter recitado o Arnold pela segunda vez, em que comecei a ter pena daquele tipo.
Sabes, querida, acho que fizeste que ele se apaixonasse por ti.
- Arnold quê? - pergunta Henry, fazendo Daisy e o avô darem uma gargalhada. Henry acrescenta, mas ela parece não ouvir: - Por acaso não achei que fosse um dos teus melhores poemas.
Percebeu o que Grammaticus quis dizer e até podia começar a explicar-lhes a doença de Baxter, mas ele próprio está a sentir a sua compreensão a ficar afectada; a visão da ferida no pescoço de Rosalind está a deixá-lo de coração empedernido. Que fraqueza, que loucura, dar-se ao luxo de sentir pena de um homem, doente ou não, que invade a sua casa. Enquanto vai ouvindo os outros falarem, a sua raiva vai aumentando, até chegar quase ao ponto de se arrepender dos cuidados de rotina que prestou a Baxter depois da queda. Podia tê-lo deixado morrer de hipoxia, alegando que o choque o deixara incapacitado. Em vez disso, desceu imediatamente as escadas com Theo e, como Baxter estava inconsciente, abriu-lhe as vias aéreas com uma pressão sobre os maxilares; calculando que podia haver uma lesão na coluna, ensinou a Theo como devia segurar-lhe a cabeça enquanto improvisava um colar cervical com as toalhas da casa de banho desse patamar. No andar de baixo, Rosalind estava a chamar uma ambulância. As linhas não estavam cortadas. Com Theo ainda a segurar-lhe a cabeça, Perowne voltou-o e examinou-lhe os sinais vitais. Não estavam grande coisa. A respiração era ruidosa, o pulso lento e fraco, as pupilas ligeiramente desiguais. Nessa altura, Baxter estava a murmurar qualquer coisa para si próprio, de olhos fechados. Conseguiu dizer o nome e obedecer quando lhe mandou fechar a mão. Perowne calculou que devia ter um Glasgow Comina Score de treze. Foi ao escritório e ligou para as urgências, falou com o médico de serviço e falou-lhe do estado do doente que ia chegar daí a algum tempo e sugeriu-lhe que pedisse uma TAC e mandasse chamar o neurocirurgião de serviço.
Depois já não havia mais nada a fazer senão esperar. Durante esse tempo conseguiram tirar o livro de Daisy do bolso de Baxter. Theo continuou a segurar-lhe a cabeça até que dois funcionários do hospital de fatos verdes lhe puseram uma via e, por instruções de Perowne, lhe administraram um fluido colóide por via intravenosa.
Com a ambulância chegaram também dois polícias e, alguns minutos depois, o agente da polícia. Depois de se ter apresentado aos presentes e de ter ouvido o relato de Perowne, disse-lhes que era muito tarde e que estavam todos muito perturbados para estarem a prestar depoimento. Anotou a matrícula do BMW vermelho, que Henry lhe deu, e também a referência ao Spearmint Rhino. Examinou o golpe no sofá e depois voltou lá acima, ajoelhou-se ao pé de Baxter, tirou-lhe a faca da mão e meteu-a num saco de plástico esterilizado. Com um algodão limpou um pouco de sangue seco dos nós dos dedos da mão esquerda de Baxter. Era provável que fosse sangue do nariz de Grammaticus.
O detective riu-se muito alto quando Theo lhe perguntou se ele ou o pai tinham cometido algum crime por terem empurrado Baxter das escadas abaixo.
- Duvido que ele apresente queixa - disse, tocando em Baxter com o bico do sapato. - E nós também não vamos apresentar.
Telefonou para a esquadra para mandarem dois agentes para o hospital para ficarem de guarda a Baxter durante a noite. Quando recuperasse a consciência, seria preso. Seguir-se-ia a acusação formal. Depois do aviso sobre a partilha de depoimentos, foram-se os três embora. Os paramédicos prenderam Baxter a um plan dur e levaram-no. Rosalind recupera de uma forma impressionante, pelo menos aparentemente. Talvez não mais de meia hora depois de a polícia e a ambulância se terem ido embora sugere que talvez fizesse bem a todos irem comer.
Ninguém tem apetite, mas seguem-na todos até à cozinha. Enquanto Perowne aquece a sopa e tira do frigorífico as amêijoas, os mexilhões, os camarões e o peixe-anjo, os filhos põem a mesa, Rosalind corta o pão e tempera a salada, e Grammaticus pousa o bloco térmico que tem sobre o nariz para abrir outra garrafa de vinho. Aquela actividade colectiva dá-lhes prazer e, ao fim de vinte minutos, a comida está pronta e sentem-se finalmente com fome. É até algo reconfortante verem Grammaticus a caminho de se embriagar, embora esteja na fase benigna. É mais ou menos naquela altura, quando estão todos sentados, que Henry fica a saber que o poema que Daisy tinha recitado se chamava «Dover Beach» e que o seu autor era Matthew Arnold, e que vinha em todas as antologias utilizadas na escola.
- É como o seu «Monte Fuji» - diz Henry, uma observação que satisfaz imensamente Grammaticus e que o leva a pôr-se de pé e a propor um brinde. John está na fase fulgurante, e esse efeito é aumentado pelo seu nariz inchado algo apalhaçado. A noite parece estar a regressar ao seu curso normal, pois tem na mão as provas de My Saucy Bark.
- Esqueçam tudo o que aconteceu. Vamos erguer os nossos copos à Daisy - diz. - Os seus poemas marcam o início brilhante de uma carreira. Tenho muito orgulho em ser avô dela e em que o livro me tenha sido dedicado. Quem diria que podia ser tão útil aprender poemas de cor a troco de uns cobres? Depois desta noite acho que tenho de lhe dar mais cinco libras. À Daisy!
- À Daisy! - respondem e, quando erguem os copos, ela dá-lhe um beijo e ele abraça-a. Está feita a reconciliação e esquecido o percalço de Newdigate.
Henry leva o vinho aos lábios, mas acha que perdeu o gosto do álcool. No momento em que Daisy e o avô se sentam o telefone toca e, como é a pessoa que está mais perto dele, Henry atende. No estado pouco habitual
em que se encontra não reconhece imediatamente o sotaque americano.
- Está lá? Henry? És tu, Henry?
- Ah, Jay. Sim, sou eu.
- Ouve. Temos um extradural. Um homem de vinte e tal anos que caiu de umas escadas. A Sally Madden foi para casa há uma hora com gripe, por isso tenho o Rodney. O miúdo é interessado e é bom e não te quer cá. Mas sabes, Henry, é que é uma fractura mesmo por cima do seio, com depressão.
Perowne pigarreia.
- Está inchado?
- Está. Por isso é que te estou a ligar. Já vi cirurgiões inexperientes rasgarem o seio e levantarem o osso e quatro litros de sangue no chão. Quero alguém com experiência, e tu és o que está mais perto. Além disso és o melhor.
Da cozinha chegam até ele gargalhadas sonoras, sem naturalidade, exageradas como antes, quase cruéis; não estão a fingir que se esqueceram do medo: estão apenas a querer sobreviver. Jay pode chamar outros cirurgiões e, regra geral, Perowne evita operar pessoas que conheça. Mas este caso é diferente. Apesar das variações da sua atitude em relação a Baxter, está a formar-se nele uma certa clarividência, quase uma certa determinação. Julga saber aquilo que quer fazer.
- Henry? Ainda aí estás?
- Vou já para aí.
É difícil dizer, porque o seu rosto nunca está imóvel, mas Baxter parece subitamente entusiasmado. A sua mão direita afastou-se do ombro de Rosalind e a faca já está outra vez no bolso. O seu olhar continua fixo em Daisy, que consegue, com autocontrolo e dissimulação, transformar o alívio que sente numa expressão de neutralidade, apenas traída pelo tremor do lábio inferior quando devolve esse olhar. Os seus braços estão caídos, indefesos, ao lado do corpo, com o livro a balançar entre os dedos. Grammaticus agarra a mão de Rosalind. O descontentamento de Nigel por ter de ouvir pela segunda vez o poema só a custo desapareceu do seu rosto.
- Eu seguro a faca enquanto tu tratas do assunto - diz a Baxter.
Henry receia que aquela deixa de Nigel, a lembrança do objectivo da sua visita, possa provocar outra variação de humor, uma reversão.
Mas Baxter quebra o silêncio e diz, muito excitado:
- Escreveste isso. Escreveste isso.
É uma afirmação, não uma pergunta. Daisy olha fixamente para ele, à espera.
- Escreveste isso - repete Baxter. E depois, apressadamente: - É lindo. E foste tu que escreveste isso.
Daisy não se atreve a dizer nada.
- Lembra-me o sítio onde eu cresci.
Henry não se lembra nem está interessado em saber onde foi. Quer chegar a Daisy para a proteger, quer chegar a Rosalind, mas tem medo enquanto Baxter estiver ao pé dela. O seu estado de espírito é muito delicado, facilmente perturbável. É importante não o surpreender nem o ameaçar.
- Ei, Baxter - diz Nigel, inclinando a cabeça para Daisy com um sorriso lúbrico.
- Não. Mudei de ideias.
- O quê? És um merdas.
- Porque é que não te vestes? - diz Baxter a Daisy, como se aquela nudez tivesse sido uma estranha ideia dela.
Por um momento, Daisy não se mexe, e ficam a olhar para ela.
- Não acredito - diz Nigel. - Tanto trabalho para nada.
Daisy baixa-se para apanhar a camisola e a saia e começa a vestir-se.
- Como é que pudeste pensar numa coisa dessas? Quer dizer, escrever isso - diz Baxter ansiosamente. E depois diz outra vez e continua a repetir: - Escreveste isso!
Ela ignora-o. Os seus movimentos são abruptos ao vestir-se, pode até haver raiva na forma como afasta com um pontapé a roupa interior, que deixa no chão. Quer cobrir o corpo e ir para junto da mãe, nada mais lhe interessa. Baxter não descobre nada de extraordinário na transformação do seu papel, de deus do terror para admirador boquiaberto. Ou para criança excitada. Henry está a tentar interceptar o olhar da filha para a avisar em silêncio da necessidade de continuar a não contrariar Baxter. Mas agora ela e a mãe estão a abraçar-se. Daisy está ajoelhada no chão, meio recostada sobre o colo de Rosalind, com os braços à volta do seu pescoço, e estão a segredar e a aconchegar-se uma à outra, indiferentes ao facto de Baxter estar atrás delas, a fazer avanços frenéticos com o corpo. Está a ficar maníaco, a tropeçar nas palavras e a mudar constantemente o peso do corpo de um pé para o outro. Daisy deixou o livro cair para cima da mesa quando foi ter com Rosalind. Baxter baixa-se e apanha-o e abana-o no ar, como se quisesse fazer cair alguma coisa lá de dentro.
- Vou levar isto - grita. - Disseste que eu podia levar o que quisesse. Por isso, levo isto. Pode ser? - Está a falar junto à nuca de Daisy.
- Merda! - exclama Nigel, num tom sibilante.
Faz parte da essência de uma mente em degenerescência perder periodicamente o sentido de um eu contínuo e por isso qualquer preocupação com o que os outros possam pensar sobre a falta de continuidade. Baxter esqueceu-se de que obrigou Daisy a despir-se e ameaçou Rosalind. Essa recordação foi obliterada por sentimentos fortes. No súbito acesso emocional da sua alteração de humor, passou a habitar a área limitada do foco de luz do presente. É este o momento certo para o atacar. Henry olha para Theo, que faz um lento e discreto sinal de concordância com a cabeça. Grammaticus está sentado no sofá, com as mãos nos ombros da filha e da neta. Rosalind e Daisy continuam abraçadas. É difícil acreditar que julguem que estão fora de perigo ou que estarão mais seguras se ignorarem Baxter. Henry chega à conclusão de que é a gravidez, a sua inquestionável existência. Está na hora de agir.
Baxter está quase a gritar:
- Não levo mais nada, ouviste? Só isto. É a única coisa que quero. - Agarra o livro como uma criança ansiosa, com medo que lhe tirem uma guloseima.
Henry olha outra vez para Theo, que se aproximou mais e parece tenso, pronto a dar um salto. Nigel está no meio deles, a observá-los, mas está desinteressado, e é provável que não faça nada. Além disso, Perowne está mais perto de Baxter e de certeza que conseguirá alcançá-lo antes de Nigel poder intervir. Mais uma vez, Perowne sente o coração a latejar nos ouvidos e pensa numa infinidade de maneiras de as coisas poderem correr mal. Olha para Theo e decide contar mentalmente até três e depois avançar, custe o que custar. Um...
Baxter volta-se de repente. Está a humedecer os lábios, que esboçam um sorriso beatífico, e os seus olhos estão brilhantes. A voz tem um tom meigo e treme de exaltação.
- Quero entrar para esse ensaio. Sei tudo sobre isso. Têm querido manter isso no segredo dos deuses, mas eu sei tudo.
- Foda-se - diz Nigel.
- Pois é - concorda Perowne, mantendo um tom inflexível na voz.
- Quero ver essa coisa.
- Pois, o ensaio americano. Está lá em cima no meu escritório.
Já quase esquecera a sua mentira. Volta a olhar para Theo, que parece querer dizer-lhe com os olhos que continue com o seu plano. Só não sabe que não há ensaio nenhum. E o preço de desapontar Baxter será elevado.
Baxter meteu o livro no bolso e tirou a faca, que acena à frente do rosto de Perowne.
- Vai andando, vai andando. Eu vou atrás de ti. Está tão excitado que seria capaz de esfaquear alguém
no meio de tanta alegria. Está a balbuciar as palavras.
- O ensaio. Mostra-me tudo. Tudo, tudo...
Henry desejaria aproximar-se de Rosalind, tocar-lhe na mão, falar com ela, beijá-la. Qualquer contacto, por breve que fosse, seria suficiente, mas Baxter está à frente dele, com aquele estranho cheiro metálico no seu hálito.
Inicialmente, a sua ideia era atraí-lo para junto dele e fazê-lo afastar-se de Nigel, mas não há razão para continuar com esse plano. Por isso, lança um último olhar desesperado a Rosalind, volta-se e dirige-se lentamente para a porta.
- Fica de olho neles - diz Baxter a Nigel. - Todos eles são perigosos.
Atravessa o vestíbulo atrás de Perowne e começam a subir as escadas, com os seus passos a baterem ao mesmo tempo na pedra. Henry tenta lembrar-se se terá alguns papéis em cima da secretária com que possa enganá-lo de forma plausível. Não se lembra, e os seus pensamentos estão mais confusos devido à necessidade de estabelecer um plano. Tem um pisa-papéis que pode atirar-lhe e também um enorme agrafador. A cadeira ortopédica de costas altas deve ser demasiado pesada para a levantar do chão. Nem sequer tem uma faca de papel. Baxter está pertíssimo dele. Talvez baste um pontapé para trás.
- Sei que não querem que se saiba - repete Baxter. - Só se interessam pelos amigos, não é?
Já vão a meio das escadas. Mesmo que o ensaio existisse, o que poderia levar Baxter a acreditar que aquele médico manteria a palavra em vez de chamar a polícia? Porque está igualmente excitado e desesperado. Porque as suas emoções são muito fortes e a sua capacidade de discernimento está a desaparecer. Por causa da degradação do seu núcleo caudado e do putamen, e das regiões frontal e temporal. Mas nada disso é relevante. Perowne precisa de um plano e os seus pensamentos estão a ser demasiado rápidos, demasiado profusos - e ele e Baxter estão já no patamar junto à porta do escritório, dominado pela enorme janela que dá para a rua, mesmo no sítio onde esta se cruza com a praça.
Henry hesita por um momento à entrada, na esperança de ver qualquer coisa que possa utilizar. Os candeeiros da secretária têm a base pesada, mas o emaranhado dos fios iria restringir o seu movimento. Numa prateleira está uma estatueta de pedra, mas teria de ir buscá-la em bicos dos pés. Tirando isso, o escritório parece um museu, um santuário, dedicado a uma outra época, bem mais despreocupada - no sofá, coberto por um tapete Bukhara, está a raqueta de squash, que ali deixou quando veio ver a lista para segunda-feira. Na mesa, junto à parede, o screen saver mostra imagens do telescópio Hubble obtidas num espaço longínquo, nuvens de gás a anos-luz de distância, estrelas cadentes e gigantes vermelhas que não conseguem fazer esquecer as preocupações terrenas. Na secretária, junto à janela, há pilhas de papéis, talvez a única esperança.
- Onde é que está? Mostra-me.
A sua ânsia e confiança são infantis, mas está a acenar a faca. Por razões diferentes, ambos estão desejosos de encontrar as provas de um ensaio clínico e de um convite para que Baxter se junte a um grupo privilegiado de doentes. Henry aproxima-se da mesa que está junto da janela, sobre a qual se encontram duas pilhas, uma de jornais e a outra de documentos impressos. Olha para baixo e vê uma informação sobre um novo método de fusão espinal e uma nova técnica para abrir carótidas com bloqueios, e ainda um artigo céptico, lançando algumas dúvidas sobre a lesão cirúrgica do globus pallidus no tratamento da doença de Parkinson. Escolhe este último e levanta-o. Não faz ideia do que está a fazer para lá de adiar o momento. A sua família está lá em baixo, e Henry sente-se muito só.
- Isto descreve a estrutura - começa a dizer. A sua voz fraqueja, como a de alguém que está a mentir, mas não há nada que possa fazer a não ser continuar a falar. - A questão é esta. O globus pallidus, o globo pálido, é uma coisa maravilhosa, no fundo do gânglio basal, uma das partes mais antigas do corpo estriado, e dividido em dois segmentos que...
Mas Baxter já não está a prestar-lhe atenção. Voltou a cabeça para ouvir. Do andar de baixo chega-lhes o som de passos pesados a atravessarem o vestíbulo e depois da porta da rua a fechar-se. Terá sido abandonado pela segunda vez num só dia? Sai do escritório a correr para o patamar. Henry pousa o artigo e vai atrás dele. Vêem Theo a dirigir-se para eles, subindo a escada a três e três, balançando os braços e com os dentes arreganhados com o esforço. Faz um som imperceptível, que parece de comando. Henry já está a mover-se. Baxter afasta a faca. Henry agarra-lhe o pulso com as duas mãos e prende-lhe o braço. Finalmente o contacto. Um instante depois, Theo inclina-se para a frente antes de subir os dois últimos degraus e agarra-o pela gola do blusão de cabedal e, com um movimento forte do corpo, fá-lo perder o equilíbrio. Ao mesmo tempo, Perowne, ainda a agarrá-lo pelo braço, empurra-o com o ombro, e juntos atiram-no pela escada abaixo.
Baxter cai de costas, com os braços estendidos, ainda com a faca na mão direita. Há um momento, que parece desabrochar e expandir-se abundantemente, em que tudo fica em silêncio e imóvel, quando Baxter vai no ar, suspenso no tempo, a olhar directamente para Henry com uma expressão não tanto de terror como de frustração. Henry tem a sensação de ver naqueles olhos castanhos esbugalhados uma dolorosa acusação de traição. Ele, Henry Perowne, tem tanta coisa - o trabalho, dinheiro, estatuto, a casa, acima de tudo a família, o filho belo e saudável com as suas mãos fortes de guitarrista que veio em seu auxílio, a filha, a bela poeta, inatingível mesmo quando nua, o sogro famoso, a mulher, inteligente e dedicada; e não fez nada, não deu nada a Baxter, que tem tão poucas coisas que não tenham sido destruídas pelo seu gene defeituoso e que está prestes a ter ainda menos.
O lanço de escadas antes da curva é longo e os degraus são de pedra dura. Com um som repetido, como uma campainha, o pé esquerdo de Baxter vai espreitando por entre as grades da escada, até que a sua cabeça bate na maior laje do patamar e depois na parede, a poucos centímetros do rodapé.
Estão em diferentes graus de estado de choque e ficam assim por várias horas depois de os polícias se terem ido embora e de os paramédicos terem levado Baxter na ambulância. Os acessos súbitos de um desejo urgente de relembrar o que aconteceu, por vezes acompanhados de lágrimas, são interrompidos por silêncios entorpecidos. Ninguém quer estar sozinho e por isso ficam juntos na sala, como que sitiados numa sala de espera, uma terra de ninguém que separa o momento difícil por que passaram do regresso à vida normal. Com a capacidade de resistência própria dos jovens, Theo e Daisy vão à cozinha e voltam com garrafas de vinho tinto, água mineral e uma tigela de cajus salgados, e também com gelo e um pano para fazerem uma compressa para o nariz do avô.
Mas o álcool, apesar de muito saboroso, não penetra. E Henry acaba por preferir a água. O que satisfaz as suas necessidades é o contacto. Sentam-se juntos, dão as mãos, abraçam-se. Quando o agente da polícia se foi embora disse que de manhã os seus colegas viriam registar os seus depoimentos individuais e por isso não deveriam discutir nem comparar os seus testemunhos. Claro que é uma recomendação inútil, e nem sequer lhes passa pela cabeça cumpri-la. Não há mais nada a fazer senão falar, ficar em silêncio e depois voltar a falar. Têm a sensação de estar a fazer uma análise cuidadosa dos terríveis acontecimentos daquela noite. Mas é mais simples: é uma reconstituição que para eles é vital. A única coisa que fazem é descrever: o momento em que entraram na sala, quando ele se voltou, quando o da cara de cavalo se foi embora... Querem ver tudo outra vez, mas de outra perspectiva, e quando acabam sabem que foi tudo verdade e sentem que com essas comparações precisas de sentimentos e observações estão a libertar-se de um pesadelo pessoal e a voltar à teia de relações sociais e familiares sem a qual não são nada. Foram atacados e dominados por intrusos porque não conseguiram comunicar e agir em conjunto; agora, pelo menos, podem fazê-lo.
Perowne vai tratar do nariz do sogro. John recusa-se a ir às urgências nessa noite e ninguém tenta convencê-lo. O inchaço torna o diagnóstico difícil, mas o nariz não se desviou da posição central e Perowne acha que deve ser uma pequena fractura, o que é muito melhor que uma rotura das cartilagens. Durante grande parte deste tempo, Henry esteve sentado ao pé de Rosalind. Mostra-lhes uma mancha vermelha e um pequeno corte no pescoço e descreve o momento em que deixou de estar aterrorizada e ficou indiferente ao que lhe acontecesse.
- Senti-me a flutuar para longe - diz Rosalind. - Era como se estivesse a ver-nos a todos, incluindo a mim própria, de um canto da sala, encostada ao tecto. E pensei que se tivesse de acontecer não ia sentir nada. Não me interessava.
- Mas nós íamos sentir - diz Theo, e todos se riem com sonoras gargalhadas, talvez demasiado sonoras.
Daisy fala com uma jovialidade frágil do momento em que se despiu à frente de Baxter.
- Tentei fingir que tinha dez anos, que estava na escola a mudar de roupa para ir jogar hóquei. Odiava a professora de ginástica e não gostava nada de me despir à frente dela. O facto de pensar nela ajudou-me. Depois imaginei que estava no jardim do castelo a recitar para o avô.
O assunto de que não se fala é da gravidez de Daisy. Talvez seja cedo de mais, pensa Henry, pois ela não se refere a isso, nem Rosalind.
Grammaticus diz por detrás da compressa:
- Sabem, sei que vai parecer uma loucura, mas houve um momento, depois de a Daisy ter recitado o Arnold pela segunda vez, em que comecei a ter pena daquele tipo.
Sabes, querida, acho que fizeste que ele se apaixonasse por ti.
- Arnold quê? - pergunta Henry, fazendo Daisy e o avô darem uma gargalhada. Henry acrescenta, mas ela parece não ouvir: - Por acaso não achei que fosse um dos teus melhores poemas.
Percebeu o que Grammaticus quis dizer e até podia começar a explicar-lhes a doença de Baxter, mas ele próprio está a sentir a sua compreensão a ficar afectada; a visão da ferida no pescoço de Rosalind está a deixá-lo de coração empedernido. Que fraqueza, que loucura, dar-se ao luxo de sentir pena de um homem, doente ou não, que invade a sua casa. Enquanto vai ouvindo os outros falarem, a sua raiva vai aumentando, até chegar quase ao ponto de se arrepender dos cuidados de rotina que prestou a Baxter depois da queda. Podia tê-lo deixado morrer de hipoxia, alegando que o choque o deixara incapacitado. Em vez disso, desceu imediatamente as escadas com Theo e, como Baxter estava inconsciente, abriu-lhe as vias aéreas com uma pressão sobre os maxilares; calculando que podia haver uma lesão na coluna, ensinou a Theo como devia segurar-lhe a cabeça enquanto improvisava um colar cervical com as toalhas da casa de banho desse patamar. No andar de baixo, Rosalind estava a chamar uma ambulância. As linhas não estavam cortadas. Com Theo ainda a segurar-lhe a cabeça, Perowne voltou-o e examinou-lhe os sinais vitais. Não estavam grande coisa. A respiração era ruidosa, o pulso lento e fraco, as pupilas ligeiramente desiguais. Nessa altura, Baxter estava a murmurar qualquer coisa para si próprio, de olhos fechados. Conseguiu dizer o nome e obedecer quando lhe mandou fechar a mão. Perowne calculou que devia ter um Glasgow Comina Score de treze. Foi ao escritório e ligou para as urgências, falou com o médico de serviço e falou-lhe do estado do doente que ia chegar daí a algum tempo e sugeriu-lhe que pedisse uma TAC e mandasse chamar o neurocirurgião de serviço.
Depois já não havia mais nada a fazer senão esperar. Durante esse tempo conseguiram tirar o livro de Daisy do bolso de Baxter. Theo continuou a segurar-lhe a cabeça até que dois funcionários do hospital de fatos verdes lhe puseram uma via e, por instruções de Perowne, lhe administraram um fluido colóide por via intravenosa.
Com a ambulância chegaram também dois polícias e, alguns minutos depois, o agente da polícia. Depois de se ter apresentado aos presentes e de ter ouvido o relato de Perowne, disse-lhes que era muito tarde e que estavam todos muito perturbados para estarem a prestar depoimento. Anotou a matrícula do BMW vermelho, que Henry lhe deu, e também a referência ao Spearmint Rhino. Examinou o golpe no sofá e depois voltou lá acima, ajoelhou-se ao pé de Baxter, tirou-lhe a faca da mão e meteu-a num saco de plástico esterilizado. Com um algodão limpou um pouco de sangue seco dos nós dos dedos da mão esquerda de Baxter. Era provável que fosse sangue do nariz de Grammaticus.
O detective riu-se muito alto quando Theo lhe perguntou se ele ou o pai tinham cometido algum crime por terem empurrado Baxter das escadas abaixo.
- Duvido que ele apresente queixa - disse, tocando em Baxter com o bico do sapato. - E nós também não vamos apresentar.
Telefonou para a esquadra para mandarem dois agentes para o hospital para ficarem de guarda a Baxter durante a noite. Quando recuperasse a consciência, seria preso. Seguir-se-ia a acusação formal. Depois do aviso sobre a partilha de depoimentos, foram-se os três embora. Os paramédicos prenderam Baxter a um plan dur e levaram-no. Rosalind recupera de uma forma impressionante, pelo menos aparentemente. Talvez não mais de meia hora depois de a polícia e a ambulância se terem ido embora sugere que talvez fizesse bem a todos irem comer.
Ninguém tem apetite, mas seguem-na todos até à cozinha. Enquanto Perowne aquece a sopa e tira do frigorífico as amêijoas, os mexilhões, os camarões e o peixe-anjo, os filhos põem a mesa, Rosalind corta o pão e tempera a salada, e Grammaticus pousa o bloco térmico que tem sobre o nariz para abrir outra garrafa de vinho. Aquela actividade colectiva dá-lhes prazer e, ao fim de vinte minutos, a comida está pronta e sentem-se finalmente com fome. É até algo reconfortante verem Grammaticus a caminho de se embriagar, embora esteja na fase benigna. É mais ou menos naquela altura, quando estão todos sentados, que Henry fica a saber que o poema que Daisy tinha recitado se chamava «Dover Beach» e que o seu autor era Matthew Arnold, e que vinha em todas as antologias utilizadas na escola.
- É como o seu «Monte Fuji» - diz Henry, uma observação que satisfaz imensamente Grammaticus e que o leva a pôr-se de pé e a propor um brinde. John está na fase fulgurante, e esse efeito é aumentado pelo seu nariz inchado algo apalhaçado. A noite parece estar a regressar ao seu curso normal, pois tem na mão as provas de My Saucy Bark.
- Esqueçam tudo o que aconteceu. Vamos erguer os nossos copos à Daisy - diz. - Os seus poemas marcam o início brilhante de uma carreira. Tenho muito orgulho em ser avô dela e em que o livro me tenha sido dedicado. Quem diria que podia ser tão útil aprender poemas de cor a troco de uns cobres? Depois desta noite acho que tenho de lhe dar mais cinco libras. À Daisy!
- À Daisy! - respondem e, quando erguem os copos, ela dá-lhe um beijo e ele abraça-a. Está feita a reconciliação e esquecido o percalço de Newdigate.
Henry leva o vinho aos lábios, mas acha que perdeu o gosto do álcool. No momento em que Daisy e o avô se sentam o telefone toca e, como é a pessoa que está mais perto dele, Henry atende. No estado pouco habitual
em que se encontra não reconhece imediatamente o sotaque americano.
- Está lá? Henry? És tu, Henry?
- Ah, Jay. Sim, sou eu.
- Ouve. Temos um extradural. Um homem de vinte e tal anos que caiu de umas escadas. A Sally Madden foi para casa há uma hora com gripe, por isso tenho o Rodney. O miúdo é interessado e é bom e não te quer cá. Mas sabes, Henry, é que é uma fractura mesmo por cima do seio, com depressão.
Perowne pigarreia.
- Está inchado?
- Está. Por isso é que te estou a ligar. Já vi cirurgiões inexperientes rasgarem o seio e levantarem o osso e quatro litros de sangue no chão. Quero alguém com experiência, e tu és o que está mais perto. Além disso és o melhor.
Da cozinha chegam até ele gargalhadas sonoras, sem naturalidade, exageradas como antes, quase cruéis; não estão a fingir que se esqueceram do medo: estão apenas a querer sobreviver. Jay pode chamar outros cirurgiões e, regra geral, Perowne evita operar pessoas que conheça. Mas este caso é diferente. Apesar das variações da sua atitude em relação a Baxter, está a formar-se nele uma certa clarividência, quase uma certa determinação. Julga saber aquilo que quer fazer.
- Henry? Ainda aí estás?
- Vou já para aí.
A família está habituada a que de vez em quando Perowne tenha de sair quando está a jantar - e neste caso o anúncio de que foi chamado ao hospital até pode ter um efeito tranquilizante, ser um sinal de que o mundo está a voltar ao normal.
Inclina-se junto da cadeira de Daisy e diz-lhe ao ouvido:
- Temos muito que falar.
Sem se voltar, ela pega-lhe na mão e aperta-a. Prepara-se para dizer ao filho, talvez pela terceira vez nessa noite, que ele lhe salvou a vida, mas em vez disso sorri-lhe e diz-lhe em surdina «Até logo». Theo nunca lhe pareceu tão bonito, tão belo, como naquele momento. Os seus braços desnudados estão sobre a mesa; os seus olhos castanhos solenes, cristalinos, com as suas enormes pestanas curvas, a perfeição despreocupada do cabelo, os dentes, a coluna direita, brilham sob a luz ténue da cozinha. Levanta o copo, de água mineral, e diz:
- Tens a certeza que estás em condições, papá?
- Ele tem razão, sabes? - intervém Grammaticus. - Foi uma longa noite. Podes matar um infeliz qualquer. - Com a sua cabeleira prateada puxada para trás e a compressa no nariz parece um leão com um penso desenhado no focinho num livro infantil.
- Eu estou bem.
Falou-se de Theo ir buscar uma guitarra acústica para acompanhar o avô em St. James Infirmary, porque Grammaticus está com vontade de fazer uma imitação de Doe Watson. Rosalind e Daisy querem ouvir a gravação da canção nova de Theo, «City Square». Há um ar de festividade forçada à volta da mesa, que lembra a Henry uma ida em família ao teatro no ano anterior, para uma noite de atrocidades sanguinárias e aterradores no Royal Court. Depois do teatro foram jantar e passaram a refeição em reminiscências hilariantes de férias de Verão, regadas por demasiado álcool.
Depois de se despedir, quando vai a sair, Grammaticus chama-o para lhe dizer:
- Quando voltares ainda aqui estamos.
Perowne sabe que é pouco provável, mas faz um alegre sinal de assentimento. Só Rosalind se apercebe da alteração mais profunda do seu humor. Levanta-se, sobe a escada com ele e vê-o vestir o casaco e procurar a carteira e as chaves.
- Porque é que disseste que ias, Henry?
- É ele.
- Porque é que aceitaste?
Estão junto à porta da frente, com a sua fechadura tripla e com o brilho reconfortante do alarme. Beija-a, depois ela puxa-o para si pela lapela e voltam a beijar-se, um beijo mais longo e intenso. É a recordação, o retomar do seu sexo matinal, e também uma promessa; é assim que terão de acabar o seu dia. Ela tem um sabor a sal que o excita. Por baixo do seu desejo, como um bloco de granito no fundo do mar, está a sua exaustão. Mas em momentos como este, quando vai a caminho do bloco operatório, o seu sentido profissional fá-lo resistir a todas as necessidades.
Depois de se separarem ele diz:
- Tive uma chatice com ele hoje de manhã por causa do carro.
- Eu percebi isso.
- E uma cena idiota no passeio.
- Então, porque é que vais? - Ela lambe o indicador e ele gosta daquela imagem fugidia da língua dela e endireita-lhe as sobrancelhas. Estão a ficar mais espessas, com pêlos teimosos ruivos, cinzentos e brancos a espetarem-se para cima, um sinal dos bloqueios de testosterona que também podem fazer crescer pêlos nos ouvidos e nas narinas, grossos como carriços. Mais indícios de declínio.
- Tenho de resolver isto - diz Perowne. - Sinto-me responsável. - Em resposta ao olhar de interrogação da mulher acrescenta: - Ele está muito doente. É provável que tenha a doença de Huntington.
- Todos percebemos que não era só mau, que também era doido. Mas, Henry, não tinhas estado a beber? Achas mesmo que estás em condições de operar?
- Isso já foi há muito tempo. Acho que a adrenalina me limpou a cabeça.
Rosalind está a mexer-lhe na lapela do casaco, mantendo-o perto dela. Não quer que ele se vá embora. Ele olha para ela com ternura e até com algum espanto, pois passou por todo aquele tormento há duas ou três horas, e ali está ela, a fingir que está inteiramente recomposta e, como sempre, interessada em conhecer todas as componentes de uma decisão não habitual e a amá-lo ao seu jeito preciso, exacto, advogada até ao mais âmago do seu ser. Henry obriga-se a desviar o olhar da ferida na sua garganta.
- Ficas bem?
Rosalind baixou os olhos para ordenar os pensamentos. Quando volta a levantá-los, Henry vê-se a si próprio, por um qualquer truque de luz, suspenso em miniatura contra o fundo preto das suas pupilas, abraçado por um campo minúsculo de íris esverdeada.
- Acho que sim - responde Rosalind. - Estou é preocupada por tu ires para o hospital.
- Que queres dizer?
- Não estás a pensar em fazer alguma coisa, numa vingança qualquer, pois não? Quero que me digas.
- Claro que não.
Puxa-a para ele e voltam a beijar-se, e desta vez as suas línguas tocam-se e deslizam uma sobre a outra, o que no seu léxico privado significa uma espécie de promessa. Vingança. De repente, Henry duvida que alguma vez tenha ouvido aquela palavra nos seus lábios. Da forma como Rosalind a proferiu, quase sem fôlego, a própria palavra adquire um tom erótico. Como consegue sair de casa? No preciso momento em que a pergunta ganha forma na sua mente, Henry sabe que vai sair; superficialmente, é apenas um momento. Jay Strauss e a equipa já devem estar na sala de anestesia a preparar o doente. Henry vê a imagem da sua própria mão direita a empurrar as portas de vaivém da sala de desinfecção. Em certo sentido, é como se já tivesse saído, embora ainda esteja a beijar Rosalind. Tem de se despachar.
- Se tivesse lidado melhor com a situação hoje de manhã, talvez nada disto tivesse acontecido. Mas, como o Jay me pediu que fosse, sinto-me na obrigação de ir. E quero ir.
Rosalind olha-o de um modo estranho, ainda a tentar avaliar as suas intenções, o seu estado de espírito, a força do sentimento que os une naquele preciso momento.
Estando genuinamente curioso de saber o que aconteceu, mas sem poder fazê-lo naquele momento, diz:
- Com que então, vamos ser avós.
Há uma certa tristeza no sorriso de Rosalind quando responde:
- Está de treze semanas e diz que está apaixonada. O Giulio tem vinte e dois anos, é de Roma e está a estudar Arqueologia em Paris. Os pais dele deram-lhes dinheiro para comprarem um pequeno apartamento.
Henry debate-se com os seus pensamentos paternos, com uma sensação incipiente de ultraje pelo assalto daquele italiano desconhecido à paz e à coesão da sua família, à sua impertinência em depositar a sua semente sem primeiro se disponibilizar para ser inspeccionado, avaliado... Por exemplo, onde estaria ele naquele momento? Sente também irritação pelo facto de a família dele ter sabido antes da de Daisy, por já estarem a ser tomadas algumas medidas. Um pequeno apartamento. Treze semanas. Perowne pousa a mão no antigo puxador de latão da porta. A gravidez de Daisy, o assunto enterrado nessa noite, surge finalmente perante ele com todos os contornos. Uma calamidade, um insulto, um desperdício e um assunto demasiado importante para ser discutido ou lamentado naquele momento, quando estão à espera dele.
- Oh, meu Deus, que confusão. Porque é que ela não nos disse? Pensou em fazer um aborto?
- Aparentemente está fora de questão. Querido, não comeces a ficar irritado quando vais ter de operar um doente.
- Como é que eles vão viver?
- Como nós vivemos.
Numa bem-aventurança de sexo e pobreza de dois estudantes que tinham de fazer turnos para tratar da bebé Daisy, enquanto lutavam, sem dormir, por um curso de Direito, um primeiro emprego nessa área e os primeiros anos como neurocirurgião. Lembra-se dele após um turno de trinta horas, a subir quatro andares de uma escada de cimento com a bicicleta às costas, tendo à sua espera os gemidos e a insónia de uma bebé com os dentes a nascer. Lembra-se também de estar nesse apartamento de duas assoalhadas em Archway a fechar a tábua de passar a ferro para poderem fazer amor a altas horas da noite no chão da sala ao pé do aquecedor a gás. Rosalind deve ter querido suscitar nele aquelas recordações para o acalmarem. Aprecia a tentativa dela, mas está perturbado. Que acontecerá a Daisy Perowne, a poeta? Ele e Rosalind organizavam os seus horários e esforçavam-se muito por dividir as tarefas domésticas.
Mas os homens italianos são pueri aeternae, que querem que as mulheres com quem casam ocupem o lugar das suas mães e lhes engomem as camisas e dobrem as cuecas. Esse tal Giulio pode destruir as esperanças da sua filha.
Henry apercebe-se de que está a cerrar um punho. Descontrai-se e diz, fugindo à verdade:
- Não posso pensar nisso agora.
- Tens razão. Nenhum de nós pode.
- É melhor ir.
Voltam a beijar-se, desta vez sem erotismo, com toda a contenção de uma despedida. Quando abre a porta, ela diz:
- Ainda estou preocupada por ires assim. Quero dizer, nesse estado. Promete-me que não fazes nenhuma tolice.
- Prometo - diz Henry, tocando-lhe no braço.
Quando a porta se fecha atrás de si e sai de casa sente um prazer clarificador no ar frio e húmido da noite, no seu passo determinado e, pode admiti-lo, em estar só por uns instantes. Se ao menos o hospital ficasse mais longe. Numa atitude algo irresponsável, prolonga o seu passeio meio minuto atravessando a praça, em vez de ir por Warren Street. Os flocos de neve que viu antes desapareceram, e esteve a chover; o pavimento da praça e as valetas de pedra brilham com um ar limpo sob a luz branca dos candeeiros da rua. Há nuvens baixas e diáfanas em volta da Torre dos Correios. A praça está deserta, e isso também lhe agrada. Segue pelo lado este, junto às grades dos jardins, sob os plátanos despidos que se agitam e rangem, tendo a seu lado a praça vazia, reduzida à sua vastidão e à simplicidade das suas linhas arquitectónicas e das suas formas brancas solenes.
Está a tentar não pensar em Giulio, concentrando-se antes em Roma, onde esteve há dois anos num simpósio de neurocirurgia, numa sala que dava para o Campo dei Fiori. Foi o próprio presidente da Câmara, Walter Veltroni, um homem calmo, civilizado, um apaixonado do jazz, que abriu os trabalhos. No dia seguinte, os cirurgiões foram acompanhados por Veltroni e vários conservadores numa visita guiada ao palácio de Nero, Domus Áurea, em grande parte ainda fechado ao público. Perowne, pouco conhecedor da antiguidade romana, ficou desapontado com a sensação de o palácio ser subterrâneo, pois a entrada era feita por uma gruta numa colina. Não era a ideia que ele fazia de um palácio. Foram conduzidos por um túnel que cheirava a terra e era iluminado por simples lâmpadas. Dos lados havia câmaras sombrias onde estavam a decorrer obras de restauro de fragmentos dos mosaicos das paredes. Um dos conservadores explicou que havia trezentas salas com mármores brancos, frescos, painéis de mosaicos com desenhos complexos, fontes e embutidos de marfim, mas não havia cozinhas, nem casas de banho, nem lavabos. Por fim, os cirurgiões viram perante si um cenário maravilhoso - corredores pintados com aves e flores e padrões elaborados que se repetiam. Viram salas onde os frescos despontavam sob uma camada de fuligem e fungos. O palácio estivera quinhentos anos soterrado sob escombros, só tendo sido descoberto no princípio do Renascimento. Nos últimos vinte anos tinha estado fechado para obras de restauro, e a sua abertura parcial estivera integrada nas celebrações da passagem do milénio em Roma. Um dos conservadores apontou-lhes um buraco irregular muito acima das cabeças deles, num enorme tecto em cúpula, escavado no século xv pelos ladrões para roubarem folha de ouro. Mais tarde, Rafael e Miguel Angelo desceram por aquele mesmo buraco com a ajuda de cordas; maravilhados, copiaram os desenhos e as pinturas iluminadas pelas tochas que levaram. A obra de ambos foi profundamente influenciada por aquelas incursões. Com a ajuda do intérprete, o Signor Veltroni utilizou uma imagem que achou que podia ter um impacto particular sobre aquele grupo de visitantes; os artistas tinham perfurado aquele crânio de tijolo para descobrirem a mente da antiga Roma.
Perowne deixa a praça e encaminha-se para leste, atravessa Tottenham Court Road e dirige-se para Gower Street. Se o presidente da Câmara estivesse certo, penetrar o crânio poria à vista não o cérebro, mas a mente. Então, daí a pouco tempo, ele, Perowne, teria a oportunidade de ficar a saber muito mais sobre Baxter; e, ao fim de uma vida inteira de cirurgias de rotina, seria um dos homens mais sábios da terra. Suficientemente sábio para compreender Daisy? Não consegue evitar aquele assunto. Recusa-se a aceitar que ela tenha decidido ficar grávida. Mas, para bem dela, tem de tentar ser positivo e generoso. Aquele romano, o Giulio, pode ser como aqueles tipos admiráveis, de fato-macaco, que viu nas câmaras de Domus Áurea, que esfregavam painéis de mosaicos com escovas de dentes. A arqueologia é uma profissão honrada. Henry acha que tem o dever de gostar do pai do seu neto. O homem que o espoliou da sua filha. Quando finalmente condescender em vir visitá-los, vai precisar de muito do seu charme de italiano.
As equipas sanitárias ainda estão a trabalhar em Gower Street, a limpar os despojos da manifestação. Talvez tenham começado há pouco. Os geradores instalados em ruidosos camiões accionam projectores que iluminam montes de comida, embalagens de plástico e cartazes abandonados, que homens com coletes amarelos e cor-de-laranja vão empurrando com grandes vassouras. Outros atiram as pilhas de lixo com pás para dentro dos camiões. Os longos braços do estado preparam o país para a guerra, limpando rapidamente as marcas deixadas pelos que discordam. Os despojos têm um certo interesse arqueológico. Entre copos de plástico, hambúrgueres abandonados e folhetos da Associação Britânica de Muçulmanos, está um cartaz a dizer «Em meu nome, não», com um pau partido. Afasta-se de um monte de lixo onde estão uma fatia de pizza com rodelas de ananás, latas de cerveja com um símbolo de xadrez, um blusão de ganga, pacotes de leite vazios e três latas de milho doce ainda fechadas. Os pormenores são opressivos, os contornos dos objectos são demasiado visíveis, as embalagens dão a sensação de querer explodir. Ainda deve haver nele resquícios de um estado de choque. Reconhece um dos varredores; é o homem que viu de manhã a limpar os passeios de Warren Street: um dia inteiro agarrado à vassoura, e agora, graças à conspurcação de um acontecimento mundial, ainda tem de fazer horas extraordinárias.
À volta da entrada da frente do hospital há a habitual aglomeração das noites de sábado e dois seguranças no meio das duas portas. É normal haver pessoas que despertam, mas não completamente, de um sono embriagado e se recordam de que a última coisa que viram foi um amigo a ser metido numa ambulância. Vão até ao hospital, muitas vezes o hospital errado, e pedem insistentemente para verem esse amigo. A função dos seguranças é afastar os mais turbulentos, os malcriados, os que não estão em condições, os que estão prestes a vomitar no chão da sala de espera ou a desafiar a autoridade de uma enfermeira filipina franzina ou de um jovem médico exausto nas últimas horas do seu turno. Também são obrigados a afastar os que querem dormir um bocado num banco ou no chão, no calor do hospital. A amostra de público que aparece num hospital a altas horas da noite aos fins-de-semana nem sempre é bem educada, nem amável, nem agradecida. Pela experiência de Henry, trabalhar nas urgências é uma verdadeira lição de misantropia. Dantes as pessoas agressivas eram toleradas e os sem-abrigo até tinham o seu pequeno canto nas urgências, mas nos últimos anos aquilo a que agora se chama cultura mudou. Os médicos estão fartos. Querem protecção.
Os bêbedos e os barulhentos são atirados para o passeio por homens que trabalharam em hotéis e restaurantes a expulsar os clientes indesejáveis e que sabem da sua profissão. É mais uma importação da América, mas esta não é má. É a tolerância zero. Mas há sempre o perigo de impedir a entrada a uma pessoa que esteja realmente doente; as lesões na cabeça, os casos de sépsis e de hipoglicémia podem parecer-se com embriaguez.
Perowne abre caminho por um pequeno grupo de pessoas. Quando chega à primeira porta, os guardas, Mitch e Tony, ambos das índias ocidentais, reconhecem-no e deixam-no passar.
- Que tal?
Tony, cuja mulher morreu com cancro da mama no ano anterior e que está a pensar tirar um curso de paramédico, responde:
- Calmo, mais ou menos.
- Pois é - diz Mitch. - Esta noite as confusões foram todas pouco barulhentas.
Riem-se os dois, e Mitch acrescenta:
- Bem, doutor, os médicos foram espertos: estão todos com gripe.
- Pois é. Eu sou mesmo burro - diz Henry. - Tenho um extradural para operar.
- Nós vimo-lo chegar.
- Pois foi. É melhor ir subindo, Dr. Perowne.
No entanto, em vez de se dirigir imediatamente para os elevadores principais, Henry faz um desvio pela sala de espera, em direcção às salas de tratamentos, para ver se Jay ou Rodney vieram tratar de outro caso enquanto esperavam por ele. Não há muita gente espalhada pelos bancos, mas a sala tem um ar meio destruído, exausto, como se tivesse ali havido uma festa enorme. O ar está húmido e adocicado. Há latas de bebidas no chão e uma peúga misturada com os papéis dos chocolates ao pé das máquinas de bebidas. Uma rapariga tem o braço sobre os ombros do namorado, que está dobrado para a frente, com a cabeça entre os joelhos. Uma senhora de idade, com um sorriso fixo, débil, espera pacientemente com as canadianas no colo. Há mais uma ou duas pessoas que olham para o chão, e uma outra deitada ao comprido no banco, a dormir, com a cabeça em cima de um casaco. Perowne passa pelas salas de tratamentos e chega à sala dos acidentes de viação, onde está um homem a sangrar profusamente do pescoço. Numa outra sala, perto da sala dos funcionários, está Fares, o médico de serviço com quem falou ao telefone.
Quando Perowne se aproxima, Fares diz-lhe:
- Ah, já chegou. Aquele seu amigo já cá está. Tirámos-lhe o colar cervical. A TAC mostrou um hematoma bilateral extradural, provavelmente com uma fractura com depressão. Já desceu uns pontos e por isso chamámos uma equipa dos acidentes. Levaram-no para cima há meia hora.
Um raio X do pescoço, a primeira medida de investigação, sugere que Baxter não vai ter complicações respiratórias. O nível de consciência segundo o Glasgow Comma Score baixou, o que não é bom sinal. Chamaram um anestesista, talvez o assistente de Jay, para o preparar para uma operação de urgência, o que terá implicado, entre outras coisas, esvaziar o estômago de Baxter.
- Qual é o valor do GCS agora?
- Baixou de treze, quando ele entrou, para onze. Alguém chama Fares e, à laia de desculpa, diz ao sair:
- Houve uma guerra com garrafas numa paragem de autocarro. Ah, Dr. Perowne, subiram dois polícias com o seu amigo.
Perowne apanha o elevador para o terceiro andar. Começa a sentir-se melhor assim que sai para a vasta área onde se encontram as duas portas que dão para o serviço de neurocirurgia. Está em casa vindo de casa. Embora por vezes as coisas corram mal, aqui consegue gerir as consequências.
Tem recursos, tem as coisas controladas. As portas estão trancadas. Espreita pelo vidro, mas não vê ninguém. Em vez de tocar à campainha vai dar a volta por um longo corredor que o levará aos cuidados intensivos. Gosta de lá ir à noite, da luz ténue, do silêncio profundo, vigilante, da calma solene das poucas pessoas de serviço durante a noite. Percorre o espaço amplo entre as camas, por entre luzes a piscarem e apitos contínuos dos monitores. Nenhum daqueles doentes é seu. Depois de Andrea Chapman ter sido transferida, todos os seus doentes da lista do dia anterior já estão nas enfermarias, o que é reconfortante. A zona exterior aos cuidados intensivos parece estranhamente vazia. Não está lá a habitual confusão de macas. No dia seguinte já lá estarão outra vez, assim como toda a agitação, os telefones constantemente a tocar, a irritação dos maqueiros. Em vez de chamar Rodney ou Jay, que devem estar no bloco, vai directamente para o vestiário.
Marca um código numérico na fechadura e penetra num espaço atafulhado e esquálido, uma espécie de pocilga tipicamente masculina, que sugere a presença de várias dezenas de jovens delinquentes fugidos de casa. Abre o seu cacifo com uma chave e começa a despir-se depressa. Lily Perowne teria ficado horrorizada. Há várias botas cirúrgicas espalhadas pelo chão, umas usadas, outras novas, assim como as embalagens de plástico onde vinham, uns ténis, uma toalha, uma camisola velha, umas calças de ganga; por cima dos cacifos estão latas de Coca-Cola vazias, uma velha prensa duma raqueta de ténis, dois bocados de uma cana de pesca sem qualquer ligação um com o outro que estão ali há meses. Na parede está um aviso feito num computador que pergunta, num tom rabugento: «Será possível porem as toalhas no sítio próprio?» Um brincalhão qualquer escreveu por baixo «não». Um outro aviso, num tom mais oficial, aconselha: «Não corra riscos com as suas coisas de valor.»
Costumava haver um aviso na porta da casa de banho a dizer: «Por favor levante a tampa da sanita.» Agora há outro que, num tom resignado, diz: «Para reclamações sobre as condições de higiene da casa de banho, ligue para o 4040.» Nenhum doente prestes a ser operado se sentiria tranquilo com as filas de socos brancos, manchados de amarelo, vermelho e castanho, com bocados de sangue coagulado e os nomes ou as iniciais dos nomes desajeitadamente escritas a esferográfica já gastas. Pode ser irritante estar com pressa e não encontrar o par de um soco. Henry tem os seus guardados no cacifo. Tira as botas de uma pilha, põe-nas e faz questão de pôr o saco de plástico no lixo. Apesar do caos que o rodeia, esses gestos acalmam-no, como exercícios mentais antes de um jogo de xadrez. Junto à porta tira um barrete cirúrgico de uma pilha e prende-o atrás da cabeça, enquanto percorre um longo corredor vazio.
Entra no bloco pela sala da anestesia. Jay Strauss e o seu assistente, Gita Syal, estão sentados ao pé do ventilador, à espera dele. Do outro lado da mesa estão Emily, a instrumentista, Joan, a enfermeira circulante, e Rodney, que parece um homem prestes a ser torturado. Perowne sabe por experiência própria como um assistente se sente mal quando o seu chefe tem de avançar, mesmo quando a necessidade é óbvia. Neste caso nem sequer foi uma decisão de Rodney. Jay Strauss puxou dos seus galões. De certeza que Rodney acha que Jay o menosprezou. Na outra mesa, tapada por campos cirúrgicos, está Baxter, de barriga para baixo. A única zona visível nele é uma parte da cabeça, rapada até à coroa. Quando um doente é tapado, desaparece a sensação de que está ali uma personalidade, um indivíduo. É muito grande o poder da visão. A única coisa que resta é uma pequena parte da cabeça, a zona a operar.
Há na sala um ar de tédio, de conversa de circunstância já esgotada. Ou talvez Jay tenha estado a discorrer sobre a necessidade da guerra que se avizinha.
Rodney terá certamente tido relutância em expressar as suas opiniões pacifistas com medo de ficar isolado.
- Vinte e cinco minutos. Foi bem bom, chefe - diz Jay.
Henry levanta a mão em saudação e depois faz sinal ao assistente de que o acompanhe até ao negatoscópio onde estão dispostas as imagens da TAC de Baxter. Numa das folhas estão dezasseis imagens, dezasseis fatias de bacon cortadas no cérebro de Baxter. O coágulo, preso entre o crânio e a dura membrana que o reveste interiormente, a dura, está na linha média entre os dois hemisférios do cérebro. Está mais ou menos cinco centímetros abaixo do vertex e é grande, quase perfeitamente redondo, e na imagem surge branco, com margens precisas. A fractura também é bem visível, com uns dezassete centímetros de comprimento, num ângulo recto em direcção à linha média. No centro, mesmo sobre essa linha média, está o osso quebrado, no sítio onde o crânio cedeu parcialmente. Sob essa fractura com depressão está um dos principais vasos sanguíneos, o seio sagital superior, vulnerável aos limites aguçados do osso fracturado, inclinados como placas tectónicas. Essa veia, disposta ao longo da dobra onde os dois hemisférios do cérebro se encontram, leva o sangue do cérebro. Está como que entalada na ranhura que se forma no sítio onde a dura se separa, envolvendo cada um dos hemisférios. Por ela correm várias centenas de mililitros de sangue por minuto, e é fácil um cirurgião rasgá-la quando está a tentar tirar o osso partido. Isso deixa sair tanto sangue que é impossível ver para a reparar. É esse o momento em que um estagiário ainda pouco experiente pode entrar em pânico. Foi por isso que Jay Strauss chamou Henry.
Enquanto está a analisar as imagens da TAC, Perowne diz a Rodney:
- Fala-me do doente.
Rodney pigarreia. A sua língua parece espessa e pesada.
- Sexo masculino, vinte e tal anos, caiu de umas escadas há mais ou menos três horas. Quando chegou às urgências estava confuso e tinha um GCS de treze, que depois baixou para onze. Tem lacerações no crânio e não foi registada nenhuma outra lesão. O raio X da coluna vertebral estava normal. Fizeram uma TAC e mandaram-no para cima.
Perowne olha por cima do ombro para os monitores que estão ao pé do ventilador. Baxter está com uma pulsação de oitenta e cinco e uma pressão arterial de cento e trinta e noventa e quatro.
- E a TAC?
Rodney hesita, perguntando talvez a si próprio se aquela pergunta não será capciosa, se não haverá qualquer coisa em que não tenha reparado e que possa agravar a sua humilhação. É um jovem corpulento, às vezes com umas saudades comoventes da Guiana, onde tem a ambição de um dia abrir uma unidade de lesões cefálicas. Em tempos teve o sonho de jogar râguebi numa grande equipa, mas foi dominado pela medicina e pela neurocirurgia. Tem uma cara simpática, inteligente. Diz-se que as mulheres o adoram e que ele as vai correndo a todas. Perowne acha que ele vai ter sucesso.
- É uma fractura da linha média com depressão, extradural e... - Rodney aponta para uma imagem mais acima, onde se vê uma pequena massa em forma de vírgula, também subdural.
Viu a única característica menos habitual, a massa por baixo da dura, e também uma massa maior por cima.
- Muito bem - murmura Perowne, e essa simples palavra salva a noite de Rodney. No entanto, há uma terceira anomalia que certamente o seu assistente não notou. À medida que a medicina vai progredindo, há certos truques de diagnóstico que vão caindo em desuso entre os médicos mais novos. Numa das primeiras imagens da TAC nota-se que o caudado de ambos os lados do cérebro não tem a habitual forma convexa, a protuberância no corno anterior dos ventrículos laterais, visível nos indivíduos saudáveis. Antes de se fazerem testes de ADN, aquela diminuição era uma forma útil de confirmar a presença da doença de Huntington. Henry nunca duvidou de que estava certo, mas aquela confirmação física dá-lhe uma certa satisfação.
- Há sangue? - pergunta Henry a Jay.
- Há muito no frigorífico - responde Gita Syal.
- O doente está hemodinamicamente estável?
- A pressão arterial e o pulso estão bons. Os valores pré-operatórios também estavam bons, a pressão das vias aéreas também é boa - responde Jay. - Estamos prontos a avançar, chefe.
Perowne olha para a cabeça de Baxter para se certificar de que Rodney a rapou no sítio certo. A laceração é a direito e está limpa. Uma parede, um rodapé, uma laje do patamar e não as impurezas, a sujidade visível nas feridas depois de um acidente de carro, e foi cosida nas urgências. Mesmo sem a apalpar, consegue ver uma zona inchada no alto da cabeça do seu doente. O sangue está a acumular-se entre o osso e o escalpe.
Satisfeito com o trabalho do seu assistente, diz-lhe:
- Tire as suturas enquanto vou à desinfecção.
Faz uma pausa para escolher uma música interpretada no piano. Decide-se pelas Variações Goldberg. Tem lá quatro CD e escolhe não a exuberância pouco ortodoxa de Glenn Gould, mas a interpretação sábia e suave de Angela Hewitt.
Menos de cinco minutos depois, com uma bata cirúrgica, luvas e máscara, volta para junto da mesa. Faz sinal a Gita de que ligue o leitor de CD. Tira da mesa de aço inoxidável que Emily pôs ao seu lado uma compressa presa numa pinça que molha numa taça com uma solução de Betadine. A ária terna e melancólica começa a revelar-se, a abrir-se, a princípio com alguma hesitação aparente, causando a sensação de que o bloco operatório é ainda mais amplo. À primeira pincelada de amarelo-girassol sobre a pele pálida, instala-se em Henry uma sensação familiar de satisfação; é o prazer de saber exactamente aquilo que está a fazer, de ver os instrumentos dispostos no carrinho, de estar com a sua equipa na calma abafada do bloco, ouvindo o murmúrio do filtro de ar, o som sibilante do oxigénio a passar para a máscara presa à cara de Baxter sob os campos esterilizados, a intensidade das luzes que estão sobre a mesa. É uma recordação do fascínio dos jogos de mesa da sua infância.
Pousa a esponja e diz em voz baixa:
- Anestesia local.
Emily passa-lhe a agulha hipodérmica que preparou. Ele injecta-a em vários locais sob a pele, não só ao longo do local da laceração, mas também um pouco mais afastados dele. Não é estritamente necessário, mas a adrenalina na lignocaína ajuda a diminuir a hemorragia. Em cada um dos locais que injecta, o escalpe incha imediatamente. Pousa a agulha e abre a mão. Não precisa de pedir. Emily põe imediatamente ao alcance dele o bisturi, com o qual Henry prolonga e afunda a laceração. Rodney está ao seu lado com o bipolar e vai fechando os pontos de sangramento em dois ou três sítios. Sempre que há um contacto com os tecidos há um sinal sonoro e uma pequena coluna de fumo acinzentado com um forte odor a carne queimada. Apesar do seu tamanho, Rodney evita atravancar o espaço do médico e vai aplicando os pequenos clips de Raney que fecham a pele e interrompem o fluxo de sangue.
Perowne pede o primeiro afastador e coloca-o em posição. Deixa que seja Rodney a pôr o segundo, e assim a longa incisão está afastada como uma boca muito aberta, deixando à mostra o crânio e toda a lesão.
A fractura é mais ou menos a direito. Está a aparecer sangue, sangue alterado. Depois de Rodney lavar a zona com uma solução salina e de a limpar, vêem que a fractura do osso tem uns dois milímetros de largura - parece uma fenda provocada por um terramoto vista do ar, ou uma brecha no leito de um rio seco. Ao centro a fractura tem dois segmentos de osso inclinados e três fendas mais pequenas que irradiam deles. Não será necessário abrir um orifício. Perowne conseguirá enfiar a serra na fissura mais larga.
Emily estende-lhe o craniótomo, mas o aspecto do pedal não lhe agrada. Parece meio inclinado. Joan sai rapidamente da sala para ir buscar outro. Enquanto ela o tira da embalagem esterilizada, Henry diz a Rodney:
- Vamos libertar uma zona à volta da fractura para podermos controlar o seio.
Dizem que ninguém abre os doentes mais depressa do que Henry Perowne, e desta vez é ainda mais rápido porque sabe que não há o perigo de danificar a dura - o coágulo está a pressioná-la, afastando-a do crânio. Embora Rodney esteja inclinado sobre o doente com uma seringa com solução de Dakin para ir humedecendo a lâmina com uma solução salina, o bloco fica a cheirar a osso chamuscado. Por vezes, Henry tem a sensação de que esse cheiro está infiltrado na sua roupa quando se despe no fim de um longo dia. É impossível falar por causa do barulho do craniótomo. Faz sinal a Rodney de que vá observando de perto. É preciso um cuidado extremo para conduzir a serra pela linha média. Pára e inclina o pedal para cima, pois, se não o fizesse, haveria o perigo de apanhar e rasgar o seio. É espantoso como pode haver lesões no cérebro quando está tão densamente rodeado de osso. Perowne faz um corte perfeitamente oval atrás da coroa da cabeça de Baxter. Antes de levantar a abertura observa os fragmentos da fractura. Pede um dissector e levanta-os ligeiramente. Saem facilmente, e ele põe-nos na ebonite com Betadine que Emily lhe estende.
Utilizando o mesmo dissector, levanta toda a zona do crânio, um grande pedaço de osso semelhante a um segmento de um coco, e põe-na na ebonite ao pé dos outros fragmentos. O coágulo está agora à vista. É de um vermelho tão escuro que parece quase preto, e com a consistência de uma compota acabada de fazer, ou, como Perowne às vezes gosta de pensar, de uma placenta. Mas à volta do coágulo o sangue corre livremente, agora que a pressão do osso foi retirada. O sangue corre da cabeça de Baxter, pelos campos cirúrgicos e para o chão.
- Levante a parte de cima da mesa, o mais que puder - grita Henry a Jay.
Se a zona que está a sangrar estiver num plano superior ao do coração, o sangue correrá menos. A mesa é levantada, e Henry e Rodney voltam a aproximar-se, pisando o sangue que está à volta dos seus pés e, em conjunto, utilizam um aspirador e um elevador para retirarem o coágulo. Humedecem a zona com uma solução salina e vêem finalmente a ruptura do seio, sensivelmente com um centímetro de comprimento. O osso foi cortado no sítio certo. A lesão está exactamente ao meio da zona exposta. O sangue inibe-lhes imediatamente a visão outra vez. O vaso deve ter sido perfurado por uma aresta de osso do fragmento mais fundo. Enquanto Rodney coloca o aspirador em posição, Perowne põe uma faixa de Surgicel sobre o local da ruptura com uma compressa por cima e diz a Rodney que faça pressão com o dedo.
- Quanto sangue é que ele perdeu? - pergunta Henry a Jay.
Ouve Jay perguntar a Joan a quantidade de soro utilizado. Fazem cálculos em conjunto.
- Dois litros e meio - diz o anestesista em voz baixa. Quando Perowne vai para pedir o elevador periostal,
Emily já está a pôr-lho nas mãos. Descobre uma área do crânio exposta mas sem lesões e com o elevador corta duas faixas do pericrânio, a membrana fibrosa que cobre o osso. Rodney tira o algodão e prepara-se para tirar o Surgicel, mas Perowne diz que não com a cabeça.
Pode estar a formar-se um coágulo e não quer tocar-lhe. Põe cuidadosamente a faixa de pericrânio sobre o Surgicel e depois uma outra camada de Surgicel e a segunda faixa de pericrânio, e depois uma compressa nova. A seguir o dedo de Rodney. Perowne limpa outra vez a zona com uma solução salina e fica à espera. A dura, opaca, de um branco azulado, está limpa. A hemorragia parou.
Mas ainda não podem começar a fechá-lo. Perowne pega no bisturi e faz uma pequena incisão na dura, afasta-a um pouco e espreita. A superfície do cérebro de Baxter está de facto coberta por um coágulo, muito mais pequeno do que o primeiro. Prolonga a incisão e Rodney afasta a dura. Perowne está satisfeito com a rapidez com que o seu ajudante trabalha. Rodney utiliza o Adson para levantar o sangue coagulado. Lavam a zona com solução salina, aspiram e esperam para ver se a hemorragia continua. Perowne acha que a origem da hemorragia pode estar nas granulações aracnóides que estão ali perto. Não há nada, mas ele ainda não quer fechar. Prefere esperar alguns minutos para ter a certeza.
Nesse intervalo, Rodney vai a uma mesa ao pé da porta que dá para a zona de desinfecção e senta-se a beber uma garrafa de água. Emily está ocupada com o tabuleiro de instrumentos e Joan está a limpar a enorme poça de sangue que está no chão.
Jay interrompe uma conversa em surdina com o seu assistente para dizer a Perowne:
- Por aqui tudo bem.
Henry continua junto à mesa. Embora esteja consciente da música, só agora é que volta a dedicar-lhe toda a sua atenção. Já passou mais de uma hora e Hewitt está na última variação, o Quodlibet, tumultuoso e divertido, quase libidinoso, com ecos de canções populares de comida e sexo. Os últimos acordes exultantes desaparecem, seguem-se alguns segundos de silêncio e depois volta a ária, idêntica à de abertura, mas alterada por todas as variações que vieram antes dela, se bem que ainda terna, mas resignada e mais triste, com as notas do piano a flutuarem vindas de longe, como de um outro mundo, elevando-se depois lentamente. Henry está a olhar para uma parte do cérebro de Baxter. Poderá convencer-se facilmente de que é um território familiar, uma espécie de país natal, com as suas colinas pequenas a envolverem os vales dos sulcos, cada um com o seu nome e a sua função. À esquerda da linha média, disposta lateralmente sob o osso, está a faixa motora. Paralela, mas mais atrás, está a faixa sensorial. Seria tão fácil provocar-lhes uma lesão, com consequências terríveis para toda a vida. Quanto tempo passou a descobrir vias para evitar aquelas zonas, como se fossem bairros perigosos de uma cidade americana. Aquela familiaridade paralisa-o diariamente devido à sua ignorância, à ignorância generalizada. Apesar das descobertas mais recentes, ainda não se sabe como é que aquelas células bem protegidas, que no seu conjunto devem pesar um quilo, codificam a informação, como é que retêm as experiências, as recordações, os sonhos e as intenções. Não duvida de que nos próximos anos o mecanismo de codificação será conhecido, mas talvez isso não aconteça durante a sua vida. Tal como acontece com os códigos digitais da replicação da vida dentro do ADN, também o segredo fundamental do cérebro será descoberto um dia. Mas, mesmo quando isso acontecer, continuará a provocar admiração o facto de uma simples massa húmida conseguir fazer um filme tão brilhante de pensamentos, visões, sons e contactos, todos interligados numa ilusão vivida de um presente instantâneo, tendo no seu centro um ser, outra ilusão brilhantemente talhada, que paira como um fantasma. Será possível explicar alguma vez como é que a matéria se torna consciente? Não consegue imaginar uma explicação que o satisfaça, mas sabe que um dia esse segredo será revelado - ao longo das décadas, desde que continuem a existir cientistas e instituições, as explicações serão de tal modo refinadas que se transformarão em verdades sobre a consciência. Já está a acontecer. Esse trabalho está a ser feito em laboratórios não muito longe daquele bloco, e a viagem será bem sucedida, Henry tem a certeza disso. É o único tipo de fé que ele tem. Há grandiosidade nesta visão da vida.
Mais nenhuma das pessoas que se encontram no bloco conhece a situação desesperada daquele cérebro. A faixa motora para onde está a olhar já está comprometida pela doença, muito provavelmente pela deterioração do núcleo caudado e do putamen, que se encontram no centro do cérebro. Henry coloca o dedo sobre a superfície do córtex de Baxter. Por vezes toca num cérebro no início de uma operação a um tumor, para avaliar a sua consistência. Que maravilhoso conto de fadas, como era compreensível e humano o sonho da cura pela imposição de mãos. Se fosse possível com o simples toque de um dedo, fá-lo-ia naquele momento. Mas os limites actuais da neurocirurgia são bastante simples: perante aqueles códigos desconhecidos, aquela densa e brilhante rede de circuitos, ele e os seus colegas limitam-se a funcionar como uma espécie de canalizadores de excelência.
Perowne faz um aceno de cabeça a Rodney.
- Parece estar tudo bem. Podes fechar.
Como está satisfeito com o seu assistente e quer que ele se sinta melhor em relação àquela noite, Perowne passa-lhe o comando das operações. Rodney sutura a dura com fio vermelho, Vicryl 3-o, e coloca o dreno extradural. Coloca o osso que foi retirado, bem como os dois fragmentos da fractura. Depois, com o drill, prende a placa de titânio que vai fixar o osso. Agora aquela zona do cérebro de Baxter parece um pavimento estranho, ou uma cabeça partida de uma boneca de porcelana mal consertada. Rodney insere o dreno subgaleal e depois começa a suturar a pele do escalpe com Vicryl 2-o e a pôr os agrafes. Perowne pede a Gita que ponha o «Adágio para Cordas», de Barber.
Tem passado até à exaustão na rádio nos últimos anos, mas às vezes Henry gosta de o ouvir na fase final de uma operação. Aquela música lânguida, meditativa, sugere um longo trabalho que finalmente chega ao fim.
Rodney põe clorhexidina sobre a ferida e em volta dela e aplica uma compressa. É neste ponto que Henry avança de novo. Prefere ser ele a ligar a cabeça. Tira o fixador de cabeça. Põe três gazes abertas sobre a cabeça de Baxter e duas à volta dela. Segura as cinco ao mesmo tempo e começa a envolver a cabeça com uma longa ligadura de crepe, segurando-a contra a cintura. É técnica e fisicamente difícil, pois tem de evitar os dois drenos e impedir que a cabeça caia. Depois de a ligadura estar presa, todas as pessoas que se encontram no bloco convergem para Baxter. É este o momento em que a identidade do doente é reposta, quando uma pequena área de um cérebro violentamente exposto é devolvida à pessoa a quem pertence. Quando o doente é destapado é como se voltasse à vida e, se Henry não tivesse já presenciado esse momento centenas de vezes, quase podia confundi-lo com ternura. Enquanto Emily e Jane tiram cuidadosamente os campos cirúrgicos que cobrem o tronco e as pernas de Baxter, Rodney certifica-se de que os tubos, as vias e os drenos não se deslocam. Gita tira as compressas que estão a tapar os olhos do doente. Jay tira o colchão insuflável de ar quente que envolve as pernas de Baxter. Henry está na parte de cima da mesa a segurar a cabeça de Baxter entre as suas mãos. O corpo, indefeso, fica finalmente exposto sobre a mesa, com uma bata do hospital. Parece pequeno. Os últimos acordes descendentes dos instrumentos de cordas da orquestra parecem dirigidos apenas a Baxter. Joan tapa-o. Tendo o cuidado de não enredar os drenos extradural e subgaleal, voltam-no de costas. Rodney enfia uma rodilha na cabeceira da mesa e Henry apoia a cabeça de Baxter sobre ela.
- Queres que o mantenha sedado durante a noite? - pergunta Jay.
- Não - responde Henry. - Vamos acordá-lo já. Retirando-lhe simplesmente os fármacos, o anestesista
vai libertar Baxter do ventilador, pondo-o a respirar sozinho. Para monitorizar essa transferência, Strauss segura com a palma da mão um pequeno saco, o ambu, através do qual a respiração de Baxter irá passar. Jay prefere confiar no seu sentido do tacto a confiar na panóplia de dados electrónicos do ventilador. Perowne tira as luvas de látex e, como é habitual, atira-as pelo ar de forma a acertar no caixote do lixo. Acertou, é bom sinal.
Tira a bata e mete-a também no caixote e depois, ainda com o barrete, vai pelo corredor à sala onde estão os impressos para fazer o relatório da cirurgia. Junto ao balcão estão dois polícias à espera e ele diz-lhes que Baxter será transferido para a unidade de cuidados intensivos dentro de dez minutos. Quando regressa à sala o ambiente é diferente. Samuel Barber foi substituído por música country and western, a preferida de Jay. Emmylou Harris está a cantar «Boulder to Birmingham». Emily e Joan estão a falar do casamento de uma amiga enquanto limpam o bloco. No turno da noite são as enfermeiras que têm de fazer esse trabalho. Os dois anestesistas estão a conversar com Rodney Browne sobre hipotecas e taxas de juro enquanto fazem os últimos preparativos para o doente ser transferido para os cuidados intensivos. Baxter está pacificamente deitado de costas, ainda sem sinais de ter recuperado a consciência. Henry senta-se numa cadeira e começa a escrever. No espaço para o nome escreve «conhecido por Baxter» e no da data de nascimento escreve «idade estimada 25 anos». Tem de deixar em branco todos os outros dados pessoais.
- Tem de se procurar - está Jay a dizer a Gita e a Rodney. - O mercado está comprador.
- É autobronzeador - diz Joan a Emily. - Ela não pode apanhar sol por causa do cancro das células basais.
Agora está toda cor-de-laranja, cara, mãos, tudo. E o casamento é no sábado.
Aquelas conversas acalmam Henry, que escreve rapidamente «ext/subdural, rep. seio sag sup, cabeça elevada e presa, lesão prolongada/afastada...»
Passou as duas últimas horas num sonho de absorção que dissolveu qualquer noção do tempo e a consciência de todas as outras componentes da sua vida. Até a consciência da sua própria existência desapareceu. Desembocou num presente puro, livre do peso do passado e de quaisquer ansiedades em relação ao futuro. Olhando para trás, é uma sensação de profunda felicidade, embora no momento concreto nunca a sinta. É como o sexo, que também o faz sentir num outro elemento, mas o prazer que proporciona é menos óbvio e naturalmente não é sensual. Aquele estado de espírito proporciona-lhe uma satisfação que nunca consegue alcançar com nenhuma forma passiva de entretenimento. Nem os livros, nem o cinema, nem sequer a música conseguem pô-lo assim. O facto de estar a trabalhar com outras pessoas é um factor a ter em conta, mas não é tudo. Aquela dissociação complacente parece requerer dificuldade, uma exigência prolongada de concentração e perícia, pressão, problemas a resolver, até perigo. Sente-se calmo, grande, inteiramente habilitado a existir. É uma sensação de vazio esclarecido, de uma alegria profunda e calada. O regresso ao trabalho, tirando o momento em que fez amor e a canção de Theo, fá-lo sentir mais feliz que qualquer outro momento do seu dia de descanso, o seu precioso sábado. Ao sair do bloco conclui que deve haver qualquer coisa errada com ele.
Apanha o elevador para o andar de baixo e percorre um corredor encerado e escuro até ao serviço de neurologia, onde se apresenta ao enfermeiro de serviço. Entra, pára à porta de um quarto de quatro camas e espreita pelo vidro. Quando vê uma luz de leitura por cima da cama mais próxima da porta abre-a devagar e entra.
Ela está sentada na cama a escrever num caderno com uma capa de plástico cor-de-rosa. Henry senta-se ao lado da cama e, antes de ela ter tempo de fechar o caderno, repara que desenhou meticulosamente um coração por cima de cada «i». Recebe-o com um sorriso sonolento de boas-vindas. A voz de Henry é pouco mais do que um sussurro.
- Não consegues dormir?
- Deram-me um comprimido, mas não consigo parar de pensar.
- Isso também me acontece a mim. Por acaso, aconteceu-me ontem à noite. Ia a passar por aqui e achei que era uma boa altura para ser eu próprio a dizer-te que a operação correu muito bem.
Com a sua pele escura e delicada, o seu rosto redondo e simpático, a ligadura que pôs em volta da sua cabeça na tarde do dia anterior, tem um aspecto digno e sepulcral. Uma rainha africana. Deixa-se escorregar para dentro da cama e puxa a roupa para cima dos ombros, como uma criança que se prepara para ouvir uma história antes de adormecer. Tem os braços cruzados sobre o peito, a abraçar o caderno.
- Tirou tudo como disse que ia fazer?
- Saiu tudo. Parecia um sonho. Não ficou lá nem um bocadinho.
- Qual foi aquela palavra que disse ontem, aquela de como é que as coisas vão correr?
Henry está intrigado. A mudança dos seus modos, a ternura com que fala, o abandono da linguagem das ruas não podem ser atribuídos apenas à medicação ou ao cansaço. Mas a zona que operou, a vermis, não tem qualquer ligação com a função emocional.
- Prognóstico - responde-lhe.
- Isso mesmo. Então, doutor, qual é o prognóstico?
- Excelente. Tens cem por cento de probabilidades de recuperares totalmente.
Ela encolhe-se mais sob a roupa da cama.
- Adoro ouvi-lo dizer isso. Diga outra vez.
Ele faz-lhe a vontade, tornando a sua voz o mais sonora e assertiva possível. De certeza que o que mudou na vida de Andrea Chapman está escrito naquele caderno. Bate com um dedo na capa e pergunta-lhe:
- Gostas de escrever sobre quê?
- É segredo - diz ela prontamente. Mas os seus olhos adquirem um brilho especial, e os seus lábios afastam-se como se fosse falar. Depois muda de ideias e fecha-os com força, e olha, não para ele, mas para o tecto, com uma expressão traquinas. Está morta por dizer.
- Sou muito bom a guardar segredos - insiste Henry. - É preciso, para se ser médico.
- Não conta a ninguém, pois não?
- Claro que não.
- Jura solenemente sobre a Bíblia?
- Prometo que não conto a ninguém.
- É assim. Tomei uma decisão. Vou ser médica.
- Brilhante.
- Cirurgiã. Quero operar cérebros.
- Isso ainda é melhor. Mas tens de te habituar a dizer que vais ser neurocirurgiã.
- Isso mesmo. Neurocirurgiã. Afastem-se todos! Vou ser neurocirurgiã.
Nunca ninguém saberá quantas carreiras médicas reais ou imaginárias despertam na infância durante o entorpecimento pós-operatório. Ao longo dos anos, muitas crianças têm comunicado essa ambição a Henry Perowne, durante as suas rondas, mas nunca nenhuma a assumiu com a intensidade com que Andrea Chapman o faz naquele momento. Está demasiado excitada para estar deitada e tapada. Tenta chegar-se para cima, apoia o cotovelo no colchão e descansa a cabeça sobre a mão, o melhor que pode porque ainda tem o dreno. Baixa os olhos e pensa cuidadosamente antes de perguntar:
- Esteve a fazer uma operação?
- Estive. Um homem que caiu das escadas e partiu a cabeça.
Mas não é no doente que está interessada.
- Esteve lá o Dr. Browne?
- Esteve.
Finalmente. Olha para Henry com uma expressão onde se misturam honestidade e súplica. Estão a chegar ao âmago do segredo.
- Ele é um médico maravilhoso, não é?
- É muito bom. O melhor. Gostas dele, não gostas? Sem conseguir falar, ela acena com a cabeça, e Henry
espera algum tempo.
- Estás apaixonada por ele.
Ao ouvir as palavras sagradas, ela estremece e depois olha rapidamente para a cara dele à procura de algum indício de troça. Mas ele está com um ar impenetravelmente grave.
- Não achas que ele é muito velho para ti? - pergunta-lhe delicadamente.
- Tenho catorze anos - protesta. - O Rodney só tem trinta e um. Sabe... - Já está sentada, ainda com o caderno cor-de-rosa agarrado ao peito, feliz por estar finalmente a falar do único assunto que verdadeiramente lhe interessa. - Ele chega aqui e senta-se aí no sítio onde o senhor está e começa a dizer-me que, se quero ser médica, preciso de estudar, e essas coisas, e parar de andar metida em grupos e essas coisas, e nem sequer sabe do que está a acontecer entre nós. Está a acontecer sem ele. Não faz a mínima ideia! Quer dizer, é mais velho do que eu, é um cirurgião importante e essas coisas todas, mas é tão ingénuo!
Explica-lhe o seu plano. Assim que acabar o curso, pelos cálculos de Henry, daí a vinte e cinco anos, vai ter com Rodney à Guiana para o ajudar na clínica dele. Depois de mais cinco minutos a ouvir falar de Rodney, Perowne levanta-se para se ir embora. Quando chega à porta, ela pergunta-lhe:
- Lembra-se de ter dito que havia de fazer um vídeo da minha operação?
- Lembro.
- Posso vê-lo?
- Acho que sim. Mas tens a certeza que queres vê-lo?
- Oh, meu Deus. Eu vou ser neurocirurgiã. Já se esqueceu? Preciso de o ver. Quero saber como é a minha cabeça por dentro. Depois vou ter de o mostrar ao Rodney.
Antes de sair, Perowne informa o enfermeiro de que Andrea está acordada e animada, e depois apanha o elevador para o terceiro andar e percorre o longo corredor que passa por trás do serviço de neurocirurgia e vai dar à entrada principal da unidade de cuidados intensivos. Por entre uma penumbra tranquilizadora, percorre a larga avenida de camas com as máquinas que as vigiam e as suas luzes coloridas a piscarem. Fazem-lhe lembrar anúncios de néon numa rua deserta. Aquela sala tem a tranquilidade efémera de uma cidade antes do amanhecer. O enfermeiro de serviço, Brian Reid, natural do Tyneside, está sentado a uma mesa a preencher uns impressos e comunica-lhe que todos os sinais vitais de Baxter estão bons, que já acordou e agora está a dormitar. Reid faz um aceno significativo na direcção dos dois polícias sentados um de cada lado da cama de Baxter. A intenção de Perowne era ir para casa assim que o estado do seu doente fosse estável, mas ao sair de junto da secretária dá consigo a dirigir-se para a cama de Baxter. Quando se aproxima, os dois polícias, aborrecidos ou meio adormecidos, levantam-se e explicam-lhe educadamente que vão esperar lá fora, no corredor.
Baxter está deitado de costas, com os braços estendidos ao lado do corpo, ligado a todos os sistemas e a respirar com facilidade pelo nariz. Não tem qualquer tremor nas mãos.
O sono é a sua única moratória. O sono ou a morte. A ligadura na cabeça não lhe dá o ar nobre que dava a Andrea. Com a barba por fazer e um inchaço escuro por baixo dos olhos parece um pugilista que acabou de ficar inconsciente, ou um cozinheiro exausto a dormitar na despensa entre dois turnos. O sono ajudou-o a relaxar o maxilar e atenuou a sua expressão simiesca. A testa não está enrugada, como é costume, por causa da injustiça ultrajante da sua situação, e deu-lhe um ar mais calmo e perspicaz.
Perowne puxa uma cadeira para junto da cama e senta-se. Uma doente que está ao fundo da sala grita, talvez a dormir, um grito agudo de espanto, repetido três vezes. Sem se voltar, apercebe-se de que o enfermeiro se dirige para ela. Olha para o relógio. Três e meia. Sabe que devia ir-se embora, que não pode adormecer ali sentado. Mas agora que está ali, quase por acidente, tem de ficar algum tempo e tem a certeza de que não vai adormecer, porque está a sentir demasiadas coisas, está desperto por muitos impulsos contraditórios. Os seus pensamentos adquiriram um carácter sinuoso e são atiçados pela mesma força ondulante que está a fazer todo o espaço da sala encrespar-se e também o chão por baixo da sua cadeira. As sensações assemelham-se de certa forma à luz, que vem em ondas, como costumavam dizer nas aulas de Física. Tem de ficar ali e, como é seu hábito, decompor os seus elementos, os seus quanta, e descobrir todas as causas distantes e próximas; só então saberá o que fazer, qual a atitude correcta a tomar. Põe a mão à volta do pulso de Baxter para ver como está a pulsação. É desnecessário, porque o monitor está a dar esse valor em números azuis brilhantes: sessenta e cinco pulsações por minuto. Fá-lo porque quer. Foi uma das primeiras coisas que aprendeu a fazer enquanto estudante. É simples, uma questão de contacto, e tranquiliza o doente, desde que seja feita com um conhecimento de causa sem vacilações.
Contar os batimentos, parecidos com passos suaves, durante quinze segundos e depois multiplicar por quatro. Vê os polícias que estão no corredor pelo vidro das portas de vaivém. Passa muito mais tempo do que um quarto de minuto. A verdade é que continua a segurar a mão de Baxter enquanto tenta esquadrinhar e ordenar os seus pensamentos e decidir exactamente o que deve ser feito.
Inclina-se junto da cadeira de Daisy e diz-lhe ao ouvido:
- Temos muito que falar.
Sem se voltar, ela pega-lhe na mão e aperta-a. Prepara-se para dizer ao filho, talvez pela terceira vez nessa noite, que ele lhe salvou a vida, mas em vez disso sorri-lhe e diz-lhe em surdina «Até logo». Theo nunca lhe pareceu tão bonito, tão belo, como naquele momento. Os seus braços desnudados estão sobre a mesa; os seus olhos castanhos solenes, cristalinos, com as suas enormes pestanas curvas, a perfeição despreocupada do cabelo, os dentes, a coluna direita, brilham sob a luz ténue da cozinha. Levanta o copo, de água mineral, e diz:
- Tens a certeza que estás em condições, papá?
- Ele tem razão, sabes? - intervém Grammaticus. - Foi uma longa noite. Podes matar um infeliz qualquer. - Com a sua cabeleira prateada puxada para trás e a compressa no nariz parece um leão com um penso desenhado no focinho num livro infantil.
- Eu estou bem.
Falou-se de Theo ir buscar uma guitarra acústica para acompanhar o avô em St. James Infirmary, porque Grammaticus está com vontade de fazer uma imitação de Doe Watson. Rosalind e Daisy querem ouvir a gravação da canção nova de Theo, «City Square». Há um ar de festividade forçada à volta da mesa, que lembra a Henry uma ida em família ao teatro no ano anterior, para uma noite de atrocidades sanguinárias e aterradores no Royal Court. Depois do teatro foram jantar e passaram a refeição em reminiscências hilariantes de férias de Verão, regadas por demasiado álcool.
Depois de se despedir, quando vai a sair, Grammaticus chama-o para lhe dizer:
- Quando voltares ainda aqui estamos.
Perowne sabe que é pouco provável, mas faz um alegre sinal de assentimento. Só Rosalind se apercebe da alteração mais profunda do seu humor. Levanta-se, sobe a escada com ele e vê-o vestir o casaco e procurar a carteira e as chaves.
- Porque é que disseste que ias, Henry?
- É ele.
- Porque é que aceitaste?
Estão junto à porta da frente, com a sua fechadura tripla e com o brilho reconfortante do alarme. Beija-a, depois ela puxa-o para si pela lapela e voltam a beijar-se, um beijo mais longo e intenso. É a recordação, o retomar do seu sexo matinal, e também uma promessa; é assim que terão de acabar o seu dia. Ela tem um sabor a sal que o excita. Por baixo do seu desejo, como um bloco de granito no fundo do mar, está a sua exaustão. Mas em momentos como este, quando vai a caminho do bloco operatório, o seu sentido profissional fá-lo resistir a todas as necessidades.
Depois de se separarem ele diz:
- Tive uma chatice com ele hoje de manhã por causa do carro.
- Eu percebi isso.
- E uma cena idiota no passeio.
- Então, porque é que vais? - Ela lambe o indicador e ele gosta daquela imagem fugidia da língua dela e endireita-lhe as sobrancelhas. Estão a ficar mais espessas, com pêlos teimosos ruivos, cinzentos e brancos a espetarem-se para cima, um sinal dos bloqueios de testosterona que também podem fazer crescer pêlos nos ouvidos e nas narinas, grossos como carriços. Mais indícios de declínio.
- Tenho de resolver isto - diz Perowne. - Sinto-me responsável. - Em resposta ao olhar de interrogação da mulher acrescenta: - Ele está muito doente. É provável que tenha a doença de Huntington.
- Todos percebemos que não era só mau, que também era doido. Mas, Henry, não tinhas estado a beber? Achas mesmo que estás em condições de operar?
- Isso já foi há muito tempo. Acho que a adrenalina me limpou a cabeça.
Rosalind está a mexer-lhe na lapela do casaco, mantendo-o perto dela. Não quer que ele se vá embora. Ele olha para ela com ternura e até com algum espanto, pois passou por todo aquele tormento há duas ou três horas, e ali está ela, a fingir que está inteiramente recomposta e, como sempre, interessada em conhecer todas as componentes de uma decisão não habitual e a amá-lo ao seu jeito preciso, exacto, advogada até ao mais âmago do seu ser. Henry obriga-se a desviar o olhar da ferida na sua garganta.
- Ficas bem?
Rosalind baixou os olhos para ordenar os pensamentos. Quando volta a levantá-los, Henry vê-se a si próprio, por um qualquer truque de luz, suspenso em miniatura contra o fundo preto das suas pupilas, abraçado por um campo minúsculo de íris esverdeada.
- Acho que sim - responde Rosalind. - Estou é preocupada por tu ires para o hospital.
- Que queres dizer?
- Não estás a pensar em fazer alguma coisa, numa vingança qualquer, pois não? Quero que me digas.
- Claro que não.
Puxa-a para ele e voltam a beijar-se, e desta vez as suas línguas tocam-se e deslizam uma sobre a outra, o que no seu léxico privado significa uma espécie de promessa. Vingança. De repente, Henry duvida que alguma vez tenha ouvido aquela palavra nos seus lábios. Da forma como Rosalind a proferiu, quase sem fôlego, a própria palavra adquire um tom erótico. Como consegue sair de casa? No preciso momento em que a pergunta ganha forma na sua mente, Henry sabe que vai sair; superficialmente, é apenas um momento. Jay Strauss e a equipa já devem estar na sala de anestesia a preparar o doente. Henry vê a imagem da sua própria mão direita a empurrar as portas de vaivém da sala de desinfecção. Em certo sentido, é como se já tivesse saído, embora ainda esteja a beijar Rosalind. Tem de se despachar.
- Se tivesse lidado melhor com a situação hoje de manhã, talvez nada disto tivesse acontecido. Mas, como o Jay me pediu que fosse, sinto-me na obrigação de ir. E quero ir.
Rosalind olha-o de um modo estranho, ainda a tentar avaliar as suas intenções, o seu estado de espírito, a força do sentimento que os une naquele preciso momento.
Estando genuinamente curioso de saber o que aconteceu, mas sem poder fazê-lo naquele momento, diz:
- Com que então, vamos ser avós.
Há uma certa tristeza no sorriso de Rosalind quando responde:
- Está de treze semanas e diz que está apaixonada. O Giulio tem vinte e dois anos, é de Roma e está a estudar Arqueologia em Paris. Os pais dele deram-lhes dinheiro para comprarem um pequeno apartamento.
Henry debate-se com os seus pensamentos paternos, com uma sensação incipiente de ultraje pelo assalto daquele italiano desconhecido à paz e à coesão da sua família, à sua impertinência em depositar a sua semente sem primeiro se disponibilizar para ser inspeccionado, avaliado... Por exemplo, onde estaria ele naquele momento? Sente também irritação pelo facto de a família dele ter sabido antes da de Daisy, por já estarem a ser tomadas algumas medidas. Um pequeno apartamento. Treze semanas. Perowne pousa a mão no antigo puxador de latão da porta. A gravidez de Daisy, o assunto enterrado nessa noite, surge finalmente perante ele com todos os contornos. Uma calamidade, um insulto, um desperdício e um assunto demasiado importante para ser discutido ou lamentado naquele momento, quando estão à espera dele.
- Oh, meu Deus, que confusão. Porque é que ela não nos disse? Pensou em fazer um aborto?
- Aparentemente está fora de questão. Querido, não comeces a ficar irritado quando vais ter de operar um doente.
- Como é que eles vão viver?
- Como nós vivemos.
Numa bem-aventurança de sexo e pobreza de dois estudantes que tinham de fazer turnos para tratar da bebé Daisy, enquanto lutavam, sem dormir, por um curso de Direito, um primeiro emprego nessa área e os primeiros anos como neurocirurgião. Lembra-se dele após um turno de trinta horas, a subir quatro andares de uma escada de cimento com a bicicleta às costas, tendo à sua espera os gemidos e a insónia de uma bebé com os dentes a nascer. Lembra-se também de estar nesse apartamento de duas assoalhadas em Archway a fechar a tábua de passar a ferro para poderem fazer amor a altas horas da noite no chão da sala ao pé do aquecedor a gás. Rosalind deve ter querido suscitar nele aquelas recordações para o acalmarem. Aprecia a tentativa dela, mas está perturbado. Que acontecerá a Daisy Perowne, a poeta? Ele e Rosalind organizavam os seus horários e esforçavam-se muito por dividir as tarefas domésticas.
Mas os homens italianos são pueri aeternae, que querem que as mulheres com quem casam ocupem o lugar das suas mães e lhes engomem as camisas e dobrem as cuecas. Esse tal Giulio pode destruir as esperanças da sua filha.
Henry apercebe-se de que está a cerrar um punho. Descontrai-se e diz, fugindo à verdade:
- Não posso pensar nisso agora.
- Tens razão. Nenhum de nós pode.
- É melhor ir.
Voltam a beijar-se, desta vez sem erotismo, com toda a contenção de uma despedida. Quando abre a porta, ela diz:
- Ainda estou preocupada por ires assim. Quero dizer, nesse estado. Promete-me que não fazes nenhuma tolice.
- Prometo - diz Henry, tocando-lhe no braço.
Quando a porta se fecha atrás de si e sai de casa sente um prazer clarificador no ar frio e húmido da noite, no seu passo determinado e, pode admiti-lo, em estar só por uns instantes. Se ao menos o hospital ficasse mais longe. Numa atitude algo irresponsável, prolonga o seu passeio meio minuto atravessando a praça, em vez de ir por Warren Street. Os flocos de neve que viu antes desapareceram, e esteve a chover; o pavimento da praça e as valetas de pedra brilham com um ar limpo sob a luz branca dos candeeiros da rua. Há nuvens baixas e diáfanas em volta da Torre dos Correios. A praça está deserta, e isso também lhe agrada. Segue pelo lado este, junto às grades dos jardins, sob os plátanos despidos que se agitam e rangem, tendo a seu lado a praça vazia, reduzida à sua vastidão e à simplicidade das suas linhas arquitectónicas e das suas formas brancas solenes.
Está a tentar não pensar em Giulio, concentrando-se antes em Roma, onde esteve há dois anos num simpósio de neurocirurgia, numa sala que dava para o Campo dei Fiori. Foi o próprio presidente da Câmara, Walter Veltroni, um homem calmo, civilizado, um apaixonado do jazz, que abriu os trabalhos. No dia seguinte, os cirurgiões foram acompanhados por Veltroni e vários conservadores numa visita guiada ao palácio de Nero, Domus Áurea, em grande parte ainda fechado ao público. Perowne, pouco conhecedor da antiguidade romana, ficou desapontado com a sensação de o palácio ser subterrâneo, pois a entrada era feita por uma gruta numa colina. Não era a ideia que ele fazia de um palácio. Foram conduzidos por um túnel que cheirava a terra e era iluminado por simples lâmpadas. Dos lados havia câmaras sombrias onde estavam a decorrer obras de restauro de fragmentos dos mosaicos das paredes. Um dos conservadores explicou que havia trezentas salas com mármores brancos, frescos, painéis de mosaicos com desenhos complexos, fontes e embutidos de marfim, mas não havia cozinhas, nem casas de banho, nem lavabos. Por fim, os cirurgiões viram perante si um cenário maravilhoso - corredores pintados com aves e flores e padrões elaborados que se repetiam. Viram salas onde os frescos despontavam sob uma camada de fuligem e fungos. O palácio estivera quinhentos anos soterrado sob escombros, só tendo sido descoberto no princípio do Renascimento. Nos últimos vinte anos tinha estado fechado para obras de restauro, e a sua abertura parcial estivera integrada nas celebrações da passagem do milénio em Roma. Um dos conservadores apontou-lhes um buraco irregular muito acima das cabeças deles, num enorme tecto em cúpula, escavado no século xv pelos ladrões para roubarem folha de ouro. Mais tarde, Rafael e Miguel Angelo desceram por aquele mesmo buraco com a ajuda de cordas; maravilhados, copiaram os desenhos e as pinturas iluminadas pelas tochas que levaram. A obra de ambos foi profundamente influenciada por aquelas incursões. Com a ajuda do intérprete, o Signor Veltroni utilizou uma imagem que achou que podia ter um impacto particular sobre aquele grupo de visitantes; os artistas tinham perfurado aquele crânio de tijolo para descobrirem a mente da antiga Roma.
Perowne deixa a praça e encaminha-se para leste, atravessa Tottenham Court Road e dirige-se para Gower Street. Se o presidente da Câmara estivesse certo, penetrar o crânio poria à vista não o cérebro, mas a mente. Então, daí a pouco tempo, ele, Perowne, teria a oportunidade de ficar a saber muito mais sobre Baxter; e, ao fim de uma vida inteira de cirurgias de rotina, seria um dos homens mais sábios da terra. Suficientemente sábio para compreender Daisy? Não consegue evitar aquele assunto. Recusa-se a aceitar que ela tenha decidido ficar grávida. Mas, para bem dela, tem de tentar ser positivo e generoso. Aquele romano, o Giulio, pode ser como aqueles tipos admiráveis, de fato-macaco, que viu nas câmaras de Domus Áurea, que esfregavam painéis de mosaicos com escovas de dentes. A arqueologia é uma profissão honrada. Henry acha que tem o dever de gostar do pai do seu neto. O homem que o espoliou da sua filha. Quando finalmente condescender em vir visitá-los, vai precisar de muito do seu charme de italiano.
As equipas sanitárias ainda estão a trabalhar em Gower Street, a limpar os despojos da manifestação. Talvez tenham começado há pouco. Os geradores instalados em ruidosos camiões accionam projectores que iluminam montes de comida, embalagens de plástico e cartazes abandonados, que homens com coletes amarelos e cor-de-laranja vão empurrando com grandes vassouras. Outros atiram as pilhas de lixo com pás para dentro dos camiões. Os longos braços do estado preparam o país para a guerra, limpando rapidamente as marcas deixadas pelos que discordam. Os despojos têm um certo interesse arqueológico. Entre copos de plástico, hambúrgueres abandonados e folhetos da Associação Britânica de Muçulmanos, está um cartaz a dizer «Em meu nome, não», com um pau partido. Afasta-se de um monte de lixo onde estão uma fatia de pizza com rodelas de ananás, latas de cerveja com um símbolo de xadrez, um blusão de ganga, pacotes de leite vazios e três latas de milho doce ainda fechadas. Os pormenores são opressivos, os contornos dos objectos são demasiado visíveis, as embalagens dão a sensação de querer explodir. Ainda deve haver nele resquícios de um estado de choque. Reconhece um dos varredores; é o homem que viu de manhã a limpar os passeios de Warren Street: um dia inteiro agarrado à vassoura, e agora, graças à conspurcação de um acontecimento mundial, ainda tem de fazer horas extraordinárias.
À volta da entrada da frente do hospital há a habitual aglomeração das noites de sábado e dois seguranças no meio das duas portas. É normal haver pessoas que despertam, mas não completamente, de um sono embriagado e se recordam de que a última coisa que viram foi um amigo a ser metido numa ambulância. Vão até ao hospital, muitas vezes o hospital errado, e pedem insistentemente para verem esse amigo. A função dos seguranças é afastar os mais turbulentos, os malcriados, os que não estão em condições, os que estão prestes a vomitar no chão da sala de espera ou a desafiar a autoridade de uma enfermeira filipina franzina ou de um jovem médico exausto nas últimas horas do seu turno. Também são obrigados a afastar os que querem dormir um bocado num banco ou no chão, no calor do hospital. A amostra de público que aparece num hospital a altas horas da noite aos fins-de-semana nem sempre é bem educada, nem amável, nem agradecida. Pela experiência de Henry, trabalhar nas urgências é uma verdadeira lição de misantropia. Dantes as pessoas agressivas eram toleradas e os sem-abrigo até tinham o seu pequeno canto nas urgências, mas nos últimos anos aquilo a que agora se chama cultura mudou. Os médicos estão fartos. Querem protecção.
Os bêbedos e os barulhentos são atirados para o passeio por homens que trabalharam em hotéis e restaurantes a expulsar os clientes indesejáveis e que sabem da sua profissão. É mais uma importação da América, mas esta não é má. É a tolerância zero. Mas há sempre o perigo de impedir a entrada a uma pessoa que esteja realmente doente; as lesões na cabeça, os casos de sépsis e de hipoglicémia podem parecer-se com embriaguez.
Perowne abre caminho por um pequeno grupo de pessoas. Quando chega à primeira porta, os guardas, Mitch e Tony, ambos das índias ocidentais, reconhecem-no e deixam-no passar.
- Que tal?
Tony, cuja mulher morreu com cancro da mama no ano anterior e que está a pensar tirar um curso de paramédico, responde:
- Calmo, mais ou menos.
- Pois é - diz Mitch. - Esta noite as confusões foram todas pouco barulhentas.
Riem-se os dois, e Mitch acrescenta:
- Bem, doutor, os médicos foram espertos: estão todos com gripe.
- Pois é. Eu sou mesmo burro - diz Henry. - Tenho um extradural para operar.
- Nós vimo-lo chegar.
- Pois foi. É melhor ir subindo, Dr. Perowne.
No entanto, em vez de se dirigir imediatamente para os elevadores principais, Henry faz um desvio pela sala de espera, em direcção às salas de tratamentos, para ver se Jay ou Rodney vieram tratar de outro caso enquanto esperavam por ele. Não há muita gente espalhada pelos bancos, mas a sala tem um ar meio destruído, exausto, como se tivesse ali havido uma festa enorme. O ar está húmido e adocicado. Há latas de bebidas no chão e uma peúga misturada com os papéis dos chocolates ao pé das máquinas de bebidas. Uma rapariga tem o braço sobre os ombros do namorado, que está dobrado para a frente, com a cabeça entre os joelhos. Uma senhora de idade, com um sorriso fixo, débil, espera pacientemente com as canadianas no colo. Há mais uma ou duas pessoas que olham para o chão, e uma outra deitada ao comprido no banco, a dormir, com a cabeça em cima de um casaco. Perowne passa pelas salas de tratamentos e chega à sala dos acidentes de viação, onde está um homem a sangrar profusamente do pescoço. Numa outra sala, perto da sala dos funcionários, está Fares, o médico de serviço com quem falou ao telefone.
Quando Perowne se aproxima, Fares diz-lhe:
- Ah, já chegou. Aquele seu amigo já cá está. Tirámos-lhe o colar cervical. A TAC mostrou um hematoma bilateral extradural, provavelmente com uma fractura com depressão. Já desceu uns pontos e por isso chamámos uma equipa dos acidentes. Levaram-no para cima há meia hora.
Um raio X do pescoço, a primeira medida de investigação, sugere que Baxter não vai ter complicações respiratórias. O nível de consciência segundo o Glasgow Comma Score baixou, o que não é bom sinal. Chamaram um anestesista, talvez o assistente de Jay, para o preparar para uma operação de urgência, o que terá implicado, entre outras coisas, esvaziar o estômago de Baxter.
- Qual é o valor do GCS agora?
- Baixou de treze, quando ele entrou, para onze. Alguém chama Fares e, à laia de desculpa, diz ao sair:
- Houve uma guerra com garrafas numa paragem de autocarro. Ah, Dr. Perowne, subiram dois polícias com o seu amigo.
Perowne apanha o elevador para o terceiro andar. Começa a sentir-se melhor assim que sai para a vasta área onde se encontram as duas portas que dão para o serviço de neurocirurgia. Está em casa vindo de casa. Embora por vezes as coisas corram mal, aqui consegue gerir as consequências.
Tem recursos, tem as coisas controladas. As portas estão trancadas. Espreita pelo vidro, mas não vê ninguém. Em vez de tocar à campainha vai dar a volta por um longo corredor que o levará aos cuidados intensivos. Gosta de lá ir à noite, da luz ténue, do silêncio profundo, vigilante, da calma solene das poucas pessoas de serviço durante a noite. Percorre o espaço amplo entre as camas, por entre luzes a piscarem e apitos contínuos dos monitores. Nenhum daqueles doentes é seu. Depois de Andrea Chapman ter sido transferida, todos os seus doentes da lista do dia anterior já estão nas enfermarias, o que é reconfortante. A zona exterior aos cuidados intensivos parece estranhamente vazia. Não está lá a habitual confusão de macas. No dia seguinte já lá estarão outra vez, assim como toda a agitação, os telefones constantemente a tocar, a irritação dos maqueiros. Em vez de chamar Rodney ou Jay, que devem estar no bloco, vai directamente para o vestiário.
Marca um código numérico na fechadura e penetra num espaço atafulhado e esquálido, uma espécie de pocilga tipicamente masculina, que sugere a presença de várias dezenas de jovens delinquentes fugidos de casa. Abre o seu cacifo com uma chave e começa a despir-se depressa. Lily Perowne teria ficado horrorizada. Há várias botas cirúrgicas espalhadas pelo chão, umas usadas, outras novas, assim como as embalagens de plástico onde vinham, uns ténis, uma toalha, uma camisola velha, umas calças de ganga; por cima dos cacifos estão latas de Coca-Cola vazias, uma velha prensa duma raqueta de ténis, dois bocados de uma cana de pesca sem qualquer ligação um com o outro que estão ali há meses. Na parede está um aviso feito num computador que pergunta, num tom rabugento: «Será possível porem as toalhas no sítio próprio?» Um brincalhão qualquer escreveu por baixo «não». Um outro aviso, num tom mais oficial, aconselha: «Não corra riscos com as suas coisas de valor.»
Costumava haver um aviso na porta da casa de banho a dizer: «Por favor levante a tampa da sanita.» Agora há outro que, num tom resignado, diz: «Para reclamações sobre as condições de higiene da casa de banho, ligue para o 4040.» Nenhum doente prestes a ser operado se sentiria tranquilo com as filas de socos brancos, manchados de amarelo, vermelho e castanho, com bocados de sangue coagulado e os nomes ou as iniciais dos nomes desajeitadamente escritas a esferográfica já gastas. Pode ser irritante estar com pressa e não encontrar o par de um soco. Henry tem os seus guardados no cacifo. Tira as botas de uma pilha, põe-nas e faz questão de pôr o saco de plástico no lixo. Apesar do caos que o rodeia, esses gestos acalmam-no, como exercícios mentais antes de um jogo de xadrez. Junto à porta tira um barrete cirúrgico de uma pilha e prende-o atrás da cabeça, enquanto percorre um longo corredor vazio.
Entra no bloco pela sala da anestesia. Jay Strauss e o seu assistente, Gita Syal, estão sentados ao pé do ventilador, à espera dele. Do outro lado da mesa estão Emily, a instrumentista, Joan, a enfermeira circulante, e Rodney, que parece um homem prestes a ser torturado. Perowne sabe por experiência própria como um assistente se sente mal quando o seu chefe tem de avançar, mesmo quando a necessidade é óbvia. Neste caso nem sequer foi uma decisão de Rodney. Jay Strauss puxou dos seus galões. De certeza que Rodney acha que Jay o menosprezou. Na outra mesa, tapada por campos cirúrgicos, está Baxter, de barriga para baixo. A única zona visível nele é uma parte da cabeça, rapada até à coroa. Quando um doente é tapado, desaparece a sensação de que está ali uma personalidade, um indivíduo. É muito grande o poder da visão. A única coisa que resta é uma pequena parte da cabeça, a zona a operar.
Há na sala um ar de tédio, de conversa de circunstância já esgotada. Ou talvez Jay tenha estado a discorrer sobre a necessidade da guerra que se avizinha.
Rodney terá certamente tido relutância em expressar as suas opiniões pacifistas com medo de ficar isolado.
- Vinte e cinco minutos. Foi bem bom, chefe - diz Jay.
Henry levanta a mão em saudação e depois faz sinal ao assistente de que o acompanhe até ao negatoscópio onde estão dispostas as imagens da TAC de Baxter. Numa das folhas estão dezasseis imagens, dezasseis fatias de bacon cortadas no cérebro de Baxter. O coágulo, preso entre o crânio e a dura membrana que o reveste interiormente, a dura, está na linha média entre os dois hemisférios do cérebro. Está mais ou menos cinco centímetros abaixo do vertex e é grande, quase perfeitamente redondo, e na imagem surge branco, com margens precisas. A fractura também é bem visível, com uns dezassete centímetros de comprimento, num ângulo recto em direcção à linha média. No centro, mesmo sobre essa linha média, está o osso quebrado, no sítio onde o crânio cedeu parcialmente. Sob essa fractura com depressão está um dos principais vasos sanguíneos, o seio sagital superior, vulnerável aos limites aguçados do osso fracturado, inclinados como placas tectónicas. Essa veia, disposta ao longo da dobra onde os dois hemisférios do cérebro se encontram, leva o sangue do cérebro. Está como que entalada na ranhura que se forma no sítio onde a dura se separa, envolvendo cada um dos hemisférios. Por ela correm várias centenas de mililitros de sangue por minuto, e é fácil um cirurgião rasgá-la quando está a tentar tirar o osso partido. Isso deixa sair tanto sangue que é impossível ver para a reparar. É esse o momento em que um estagiário ainda pouco experiente pode entrar em pânico. Foi por isso que Jay Strauss chamou Henry.
Enquanto está a analisar as imagens da TAC, Perowne diz a Rodney:
- Fala-me do doente.
Rodney pigarreia. A sua língua parece espessa e pesada.
- Sexo masculino, vinte e tal anos, caiu de umas escadas há mais ou menos três horas. Quando chegou às urgências estava confuso e tinha um GCS de treze, que depois baixou para onze. Tem lacerações no crânio e não foi registada nenhuma outra lesão. O raio X da coluna vertebral estava normal. Fizeram uma TAC e mandaram-no para cima.
Perowne olha por cima do ombro para os monitores que estão ao pé do ventilador. Baxter está com uma pulsação de oitenta e cinco e uma pressão arterial de cento e trinta e noventa e quatro.
- E a TAC?
Rodney hesita, perguntando talvez a si próprio se aquela pergunta não será capciosa, se não haverá qualquer coisa em que não tenha reparado e que possa agravar a sua humilhação. É um jovem corpulento, às vezes com umas saudades comoventes da Guiana, onde tem a ambição de um dia abrir uma unidade de lesões cefálicas. Em tempos teve o sonho de jogar râguebi numa grande equipa, mas foi dominado pela medicina e pela neurocirurgia. Tem uma cara simpática, inteligente. Diz-se que as mulheres o adoram e que ele as vai correndo a todas. Perowne acha que ele vai ter sucesso.
- É uma fractura da linha média com depressão, extradural e... - Rodney aponta para uma imagem mais acima, onde se vê uma pequena massa em forma de vírgula, também subdural.
Viu a única característica menos habitual, a massa por baixo da dura, e também uma massa maior por cima.
- Muito bem - murmura Perowne, e essa simples palavra salva a noite de Rodney. No entanto, há uma terceira anomalia que certamente o seu assistente não notou. À medida que a medicina vai progredindo, há certos truques de diagnóstico que vão caindo em desuso entre os médicos mais novos. Numa das primeiras imagens da TAC nota-se que o caudado de ambos os lados do cérebro não tem a habitual forma convexa, a protuberância no corno anterior dos ventrículos laterais, visível nos indivíduos saudáveis. Antes de se fazerem testes de ADN, aquela diminuição era uma forma útil de confirmar a presença da doença de Huntington. Henry nunca duvidou de que estava certo, mas aquela confirmação física dá-lhe uma certa satisfação.
- Há sangue? - pergunta Henry a Jay.
- Há muito no frigorífico - responde Gita Syal.
- O doente está hemodinamicamente estável?
- A pressão arterial e o pulso estão bons. Os valores pré-operatórios também estavam bons, a pressão das vias aéreas também é boa - responde Jay. - Estamos prontos a avançar, chefe.
Perowne olha para a cabeça de Baxter para se certificar de que Rodney a rapou no sítio certo. A laceração é a direito e está limpa. Uma parede, um rodapé, uma laje do patamar e não as impurezas, a sujidade visível nas feridas depois de um acidente de carro, e foi cosida nas urgências. Mesmo sem a apalpar, consegue ver uma zona inchada no alto da cabeça do seu doente. O sangue está a acumular-se entre o osso e o escalpe.
Satisfeito com o trabalho do seu assistente, diz-lhe:
- Tire as suturas enquanto vou à desinfecção.
Faz uma pausa para escolher uma música interpretada no piano. Decide-se pelas Variações Goldberg. Tem lá quatro CD e escolhe não a exuberância pouco ortodoxa de Glenn Gould, mas a interpretação sábia e suave de Angela Hewitt.
Menos de cinco minutos depois, com uma bata cirúrgica, luvas e máscara, volta para junto da mesa. Faz sinal a Gita de que ligue o leitor de CD. Tira da mesa de aço inoxidável que Emily pôs ao seu lado uma compressa presa numa pinça que molha numa taça com uma solução de Betadine. A ária terna e melancólica começa a revelar-se, a abrir-se, a princípio com alguma hesitação aparente, causando a sensação de que o bloco operatório é ainda mais amplo. À primeira pincelada de amarelo-girassol sobre a pele pálida, instala-se em Henry uma sensação familiar de satisfação; é o prazer de saber exactamente aquilo que está a fazer, de ver os instrumentos dispostos no carrinho, de estar com a sua equipa na calma abafada do bloco, ouvindo o murmúrio do filtro de ar, o som sibilante do oxigénio a passar para a máscara presa à cara de Baxter sob os campos esterilizados, a intensidade das luzes que estão sobre a mesa. É uma recordação do fascínio dos jogos de mesa da sua infância.
Pousa a esponja e diz em voz baixa:
- Anestesia local.
Emily passa-lhe a agulha hipodérmica que preparou. Ele injecta-a em vários locais sob a pele, não só ao longo do local da laceração, mas também um pouco mais afastados dele. Não é estritamente necessário, mas a adrenalina na lignocaína ajuda a diminuir a hemorragia. Em cada um dos locais que injecta, o escalpe incha imediatamente. Pousa a agulha e abre a mão. Não precisa de pedir. Emily põe imediatamente ao alcance dele o bisturi, com o qual Henry prolonga e afunda a laceração. Rodney está ao seu lado com o bipolar e vai fechando os pontos de sangramento em dois ou três sítios. Sempre que há um contacto com os tecidos há um sinal sonoro e uma pequena coluna de fumo acinzentado com um forte odor a carne queimada. Apesar do seu tamanho, Rodney evita atravancar o espaço do médico e vai aplicando os pequenos clips de Raney que fecham a pele e interrompem o fluxo de sangue.
Perowne pede o primeiro afastador e coloca-o em posição. Deixa que seja Rodney a pôr o segundo, e assim a longa incisão está afastada como uma boca muito aberta, deixando à mostra o crânio e toda a lesão.
A fractura é mais ou menos a direito. Está a aparecer sangue, sangue alterado. Depois de Rodney lavar a zona com uma solução salina e de a limpar, vêem que a fractura do osso tem uns dois milímetros de largura - parece uma fenda provocada por um terramoto vista do ar, ou uma brecha no leito de um rio seco. Ao centro a fractura tem dois segmentos de osso inclinados e três fendas mais pequenas que irradiam deles. Não será necessário abrir um orifício. Perowne conseguirá enfiar a serra na fissura mais larga.
Emily estende-lhe o craniótomo, mas o aspecto do pedal não lhe agrada. Parece meio inclinado. Joan sai rapidamente da sala para ir buscar outro. Enquanto ela o tira da embalagem esterilizada, Henry diz a Rodney:
- Vamos libertar uma zona à volta da fractura para podermos controlar o seio.
Dizem que ninguém abre os doentes mais depressa do que Henry Perowne, e desta vez é ainda mais rápido porque sabe que não há o perigo de danificar a dura - o coágulo está a pressioná-la, afastando-a do crânio. Embora Rodney esteja inclinado sobre o doente com uma seringa com solução de Dakin para ir humedecendo a lâmina com uma solução salina, o bloco fica a cheirar a osso chamuscado. Por vezes, Henry tem a sensação de que esse cheiro está infiltrado na sua roupa quando se despe no fim de um longo dia. É impossível falar por causa do barulho do craniótomo. Faz sinal a Rodney de que vá observando de perto. É preciso um cuidado extremo para conduzir a serra pela linha média. Pára e inclina o pedal para cima, pois, se não o fizesse, haveria o perigo de apanhar e rasgar o seio. É espantoso como pode haver lesões no cérebro quando está tão densamente rodeado de osso. Perowne faz um corte perfeitamente oval atrás da coroa da cabeça de Baxter. Antes de levantar a abertura observa os fragmentos da fractura. Pede um dissector e levanta-os ligeiramente. Saem facilmente, e ele põe-nos na ebonite com Betadine que Emily lhe estende.
Utilizando o mesmo dissector, levanta toda a zona do crânio, um grande pedaço de osso semelhante a um segmento de um coco, e põe-na na ebonite ao pé dos outros fragmentos. O coágulo está agora à vista. É de um vermelho tão escuro que parece quase preto, e com a consistência de uma compota acabada de fazer, ou, como Perowne às vezes gosta de pensar, de uma placenta. Mas à volta do coágulo o sangue corre livremente, agora que a pressão do osso foi retirada. O sangue corre da cabeça de Baxter, pelos campos cirúrgicos e para o chão.
- Levante a parte de cima da mesa, o mais que puder - grita Henry a Jay.
Se a zona que está a sangrar estiver num plano superior ao do coração, o sangue correrá menos. A mesa é levantada, e Henry e Rodney voltam a aproximar-se, pisando o sangue que está à volta dos seus pés e, em conjunto, utilizam um aspirador e um elevador para retirarem o coágulo. Humedecem a zona com uma solução salina e vêem finalmente a ruptura do seio, sensivelmente com um centímetro de comprimento. O osso foi cortado no sítio certo. A lesão está exactamente ao meio da zona exposta. O sangue inibe-lhes imediatamente a visão outra vez. O vaso deve ter sido perfurado por uma aresta de osso do fragmento mais fundo. Enquanto Rodney coloca o aspirador em posição, Perowne põe uma faixa de Surgicel sobre o local da ruptura com uma compressa por cima e diz a Rodney que faça pressão com o dedo.
- Quanto sangue é que ele perdeu? - pergunta Henry a Jay.
Ouve Jay perguntar a Joan a quantidade de soro utilizado. Fazem cálculos em conjunto.
- Dois litros e meio - diz o anestesista em voz baixa. Quando Perowne vai para pedir o elevador periostal,
Emily já está a pôr-lho nas mãos. Descobre uma área do crânio exposta mas sem lesões e com o elevador corta duas faixas do pericrânio, a membrana fibrosa que cobre o osso. Rodney tira o algodão e prepara-se para tirar o Surgicel, mas Perowne diz que não com a cabeça.
Pode estar a formar-se um coágulo e não quer tocar-lhe. Põe cuidadosamente a faixa de pericrânio sobre o Surgicel e depois uma outra camada de Surgicel e a segunda faixa de pericrânio, e depois uma compressa nova. A seguir o dedo de Rodney. Perowne limpa outra vez a zona com uma solução salina e fica à espera. A dura, opaca, de um branco azulado, está limpa. A hemorragia parou.
Mas ainda não podem começar a fechá-lo. Perowne pega no bisturi e faz uma pequena incisão na dura, afasta-a um pouco e espreita. A superfície do cérebro de Baxter está de facto coberta por um coágulo, muito mais pequeno do que o primeiro. Prolonga a incisão e Rodney afasta a dura. Perowne está satisfeito com a rapidez com que o seu ajudante trabalha. Rodney utiliza o Adson para levantar o sangue coagulado. Lavam a zona com solução salina, aspiram e esperam para ver se a hemorragia continua. Perowne acha que a origem da hemorragia pode estar nas granulações aracnóides que estão ali perto. Não há nada, mas ele ainda não quer fechar. Prefere esperar alguns minutos para ter a certeza.
Nesse intervalo, Rodney vai a uma mesa ao pé da porta que dá para a zona de desinfecção e senta-se a beber uma garrafa de água. Emily está ocupada com o tabuleiro de instrumentos e Joan está a limpar a enorme poça de sangue que está no chão.
Jay interrompe uma conversa em surdina com o seu assistente para dizer a Perowne:
- Por aqui tudo bem.
Henry continua junto à mesa. Embora esteja consciente da música, só agora é que volta a dedicar-lhe toda a sua atenção. Já passou mais de uma hora e Hewitt está na última variação, o Quodlibet, tumultuoso e divertido, quase libidinoso, com ecos de canções populares de comida e sexo. Os últimos acordes exultantes desaparecem, seguem-se alguns segundos de silêncio e depois volta a ária, idêntica à de abertura, mas alterada por todas as variações que vieram antes dela, se bem que ainda terna, mas resignada e mais triste, com as notas do piano a flutuarem vindas de longe, como de um outro mundo, elevando-se depois lentamente. Henry está a olhar para uma parte do cérebro de Baxter. Poderá convencer-se facilmente de que é um território familiar, uma espécie de país natal, com as suas colinas pequenas a envolverem os vales dos sulcos, cada um com o seu nome e a sua função. À esquerda da linha média, disposta lateralmente sob o osso, está a faixa motora. Paralela, mas mais atrás, está a faixa sensorial. Seria tão fácil provocar-lhes uma lesão, com consequências terríveis para toda a vida. Quanto tempo passou a descobrir vias para evitar aquelas zonas, como se fossem bairros perigosos de uma cidade americana. Aquela familiaridade paralisa-o diariamente devido à sua ignorância, à ignorância generalizada. Apesar das descobertas mais recentes, ainda não se sabe como é que aquelas células bem protegidas, que no seu conjunto devem pesar um quilo, codificam a informação, como é que retêm as experiências, as recordações, os sonhos e as intenções. Não duvida de que nos próximos anos o mecanismo de codificação será conhecido, mas talvez isso não aconteça durante a sua vida. Tal como acontece com os códigos digitais da replicação da vida dentro do ADN, também o segredo fundamental do cérebro será descoberto um dia. Mas, mesmo quando isso acontecer, continuará a provocar admiração o facto de uma simples massa húmida conseguir fazer um filme tão brilhante de pensamentos, visões, sons e contactos, todos interligados numa ilusão vivida de um presente instantâneo, tendo no seu centro um ser, outra ilusão brilhantemente talhada, que paira como um fantasma. Será possível explicar alguma vez como é que a matéria se torna consciente? Não consegue imaginar uma explicação que o satisfaça, mas sabe que um dia esse segredo será revelado - ao longo das décadas, desde que continuem a existir cientistas e instituições, as explicações serão de tal modo refinadas que se transformarão em verdades sobre a consciência. Já está a acontecer. Esse trabalho está a ser feito em laboratórios não muito longe daquele bloco, e a viagem será bem sucedida, Henry tem a certeza disso. É o único tipo de fé que ele tem. Há grandiosidade nesta visão da vida.
Mais nenhuma das pessoas que se encontram no bloco conhece a situação desesperada daquele cérebro. A faixa motora para onde está a olhar já está comprometida pela doença, muito provavelmente pela deterioração do núcleo caudado e do putamen, que se encontram no centro do cérebro. Henry coloca o dedo sobre a superfície do córtex de Baxter. Por vezes toca num cérebro no início de uma operação a um tumor, para avaliar a sua consistência. Que maravilhoso conto de fadas, como era compreensível e humano o sonho da cura pela imposição de mãos. Se fosse possível com o simples toque de um dedo, fá-lo-ia naquele momento. Mas os limites actuais da neurocirurgia são bastante simples: perante aqueles códigos desconhecidos, aquela densa e brilhante rede de circuitos, ele e os seus colegas limitam-se a funcionar como uma espécie de canalizadores de excelência.
Perowne faz um aceno de cabeça a Rodney.
- Parece estar tudo bem. Podes fechar.
Como está satisfeito com o seu assistente e quer que ele se sinta melhor em relação àquela noite, Perowne passa-lhe o comando das operações. Rodney sutura a dura com fio vermelho, Vicryl 3-o, e coloca o dreno extradural. Coloca o osso que foi retirado, bem como os dois fragmentos da fractura. Depois, com o drill, prende a placa de titânio que vai fixar o osso. Agora aquela zona do cérebro de Baxter parece um pavimento estranho, ou uma cabeça partida de uma boneca de porcelana mal consertada. Rodney insere o dreno subgaleal e depois começa a suturar a pele do escalpe com Vicryl 2-o e a pôr os agrafes. Perowne pede a Gita que ponha o «Adágio para Cordas», de Barber.
Tem passado até à exaustão na rádio nos últimos anos, mas às vezes Henry gosta de o ouvir na fase final de uma operação. Aquela música lânguida, meditativa, sugere um longo trabalho que finalmente chega ao fim.
Rodney põe clorhexidina sobre a ferida e em volta dela e aplica uma compressa. É neste ponto que Henry avança de novo. Prefere ser ele a ligar a cabeça. Tira o fixador de cabeça. Põe três gazes abertas sobre a cabeça de Baxter e duas à volta dela. Segura as cinco ao mesmo tempo e começa a envolver a cabeça com uma longa ligadura de crepe, segurando-a contra a cintura. É técnica e fisicamente difícil, pois tem de evitar os dois drenos e impedir que a cabeça caia. Depois de a ligadura estar presa, todas as pessoas que se encontram no bloco convergem para Baxter. É este o momento em que a identidade do doente é reposta, quando uma pequena área de um cérebro violentamente exposto é devolvida à pessoa a quem pertence. Quando o doente é destapado é como se voltasse à vida e, se Henry não tivesse já presenciado esse momento centenas de vezes, quase podia confundi-lo com ternura. Enquanto Emily e Jane tiram cuidadosamente os campos cirúrgicos que cobrem o tronco e as pernas de Baxter, Rodney certifica-se de que os tubos, as vias e os drenos não se deslocam. Gita tira as compressas que estão a tapar os olhos do doente. Jay tira o colchão insuflável de ar quente que envolve as pernas de Baxter. Henry está na parte de cima da mesa a segurar a cabeça de Baxter entre as suas mãos. O corpo, indefeso, fica finalmente exposto sobre a mesa, com uma bata do hospital. Parece pequeno. Os últimos acordes descendentes dos instrumentos de cordas da orquestra parecem dirigidos apenas a Baxter. Joan tapa-o. Tendo o cuidado de não enredar os drenos extradural e subgaleal, voltam-no de costas. Rodney enfia uma rodilha na cabeceira da mesa e Henry apoia a cabeça de Baxter sobre ela.
- Queres que o mantenha sedado durante a noite? - pergunta Jay.
- Não - responde Henry. - Vamos acordá-lo já. Retirando-lhe simplesmente os fármacos, o anestesista
vai libertar Baxter do ventilador, pondo-o a respirar sozinho. Para monitorizar essa transferência, Strauss segura com a palma da mão um pequeno saco, o ambu, através do qual a respiração de Baxter irá passar. Jay prefere confiar no seu sentido do tacto a confiar na panóplia de dados electrónicos do ventilador. Perowne tira as luvas de látex e, como é habitual, atira-as pelo ar de forma a acertar no caixote do lixo. Acertou, é bom sinal.
Tira a bata e mete-a também no caixote e depois, ainda com o barrete, vai pelo corredor à sala onde estão os impressos para fazer o relatório da cirurgia. Junto ao balcão estão dois polícias à espera e ele diz-lhes que Baxter será transferido para a unidade de cuidados intensivos dentro de dez minutos. Quando regressa à sala o ambiente é diferente. Samuel Barber foi substituído por música country and western, a preferida de Jay. Emmylou Harris está a cantar «Boulder to Birmingham». Emily e Joan estão a falar do casamento de uma amiga enquanto limpam o bloco. No turno da noite são as enfermeiras que têm de fazer esse trabalho. Os dois anestesistas estão a conversar com Rodney Browne sobre hipotecas e taxas de juro enquanto fazem os últimos preparativos para o doente ser transferido para os cuidados intensivos. Baxter está pacificamente deitado de costas, ainda sem sinais de ter recuperado a consciência. Henry senta-se numa cadeira e começa a escrever. No espaço para o nome escreve «conhecido por Baxter» e no da data de nascimento escreve «idade estimada 25 anos». Tem de deixar em branco todos os outros dados pessoais.
- Tem de se procurar - está Jay a dizer a Gita e a Rodney. - O mercado está comprador.
- É autobronzeador - diz Joan a Emily. - Ela não pode apanhar sol por causa do cancro das células basais.
Agora está toda cor-de-laranja, cara, mãos, tudo. E o casamento é no sábado.
Aquelas conversas acalmam Henry, que escreve rapidamente «ext/subdural, rep. seio sag sup, cabeça elevada e presa, lesão prolongada/afastada...»
Passou as duas últimas horas num sonho de absorção que dissolveu qualquer noção do tempo e a consciência de todas as outras componentes da sua vida. Até a consciência da sua própria existência desapareceu. Desembocou num presente puro, livre do peso do passado e de quaisquer ansiedades em relação ao futuro. Olhando para trás, é uma sensação de profunda felicidade, embora no momento concreto nunca a sinta. É como o sexo, que também o faz sentir num outro elemento, mas o prazer que proporciona é menos óbvio e naturalmente não é sensual. Aquele estado de espírito proporciona-lhe uma satisfação que nunca consegue alcançar com nenhuma forma passiva de entretenimento. Nem os livros, nem o cinema, nem sequer a música conseguem pô-lo assim. O facto de estar a trabalhar com outras pessoas é um factor a ter em conta, mas não é tudo. Aquela dissociação complacente parece requerer dificuldade, uma exigência prolongada de concentração e perícia, pressão, problemas a resolver, até perigo. Sente-se calmo, grande, inteiramente habilitado a existir. É uma sensação de vazio esclarecido, de uma alegria profunda e calada. O regresso ao trabalho, tirando o momento em que fez amor e a canção de Theo, fá-lo sentir mais feliz que qualquer outro momento do seu dia de descanso, o seu precioso sábado. Ao sair do bloco conclui que deve haver qualquer coisa errada com ele.
Apanha o elevador para o andar de baixo e percorre um corredor encerado e escuro até ao serviço de neurologia, onde se apresenta ao enfermeiro de serviço. Entra, pára à porta de um quarto de quatro camas e espreita pelo vidro. Quando vê uma luz de leitura por cima da cama mais próxima da porta abre-a devagar e entra.
Ela está sentada na cama a escrever num caderno com uma capa de plástico cor-de-rosa. Henry senta-se ao lado da cama e, antes de ela ter tempo de fechar o caderno, repara que desenhou meticulosamente um coração por cima de cada «i». Recebe-o com um sorriso sonolento de boas-vindas. A voz de Henry é pouco mais do que um sussurro.
- Não consegues dormir?
- Deram-me um comprimido, mas não consigo parar de pensar.
- Isso também me acontece a mim. Por acaso, aconteceu-me ontem à noite. Ia a passar por aqui e achei que era uma boa altura para ser eu próprio a dizer-te que a operação correu muito bem.
Com a sua pele escura e delicada, o seu rosto redondo e simpático, a ligadura que pôs em volta da sua cabeça na tarde do dia anterior, tem um aspecto digno e sepulcral. Uma rainha africana. Deixa-se escorregar para dentro da cama e puxa a roupa para cima dos ombros, como uma criança que se prepara para ouvir uma história antes de adormecer. Tem os braços cruzados sobre o peito, a abraçar o caderno.
- Tirou tudo como disse que ia fazer?
- Saiu tudo. Parecia um sonho. Não ficou lá nem um bocadinho.
- Qual foi aquela palavra que disse ontem, aquela de como é que as coisas vão correr?
Henry está intrigado. A mudança dos seus modos, a ternura com que fala, o abandono da linguagem das ruas não podem ser atribuídos apenas à medicação ou ao cansaço. Mas a zona que operou, a vermis, não tem qualquer ligação com a função emocional.
- Prognóstico - responde-lhe.
- Isso mesmo. Então, doutor, qual é o prognóstico?
- Excelente. Tens cem por cento de probabilidades de recuperares totalmente.
Ela encolhe-se mais sob a roupa da cama.
- Adoro ouvi-lo dizer isso. Diga outra vez.
Ele faz-lhe a vontade, tornando a sua voz o mais sonora e assertiva possível. De certeza que o que mudou na vida de Andrea Chapman está escrito naquele caderno. Bate com um dedo na capa e pergunta-lhe:
- Gostas de escrever sobre quê?
- É segredo - diz ela prontamente. Mas os seus olhos adquirem um brilho especial, e os seus lábios afastam-se como se fosse falar. Depois muda de ideias e fecha-os com força, e olha, não para ele, mas para o tecto, com uma expressão traquinas. Está morta por dizer.
- Sou muito bom a guardar segredos - insiste Henry. - É preciso, para se ser médico.
- Não conta a ninguém, pois não?
- Claro que não.
- Jura solenemente sobre a Bíblia?
- Prometo que não conto a ninguém.
- É assim. Tomei uma decisão. Vou ser médica.
- Brilhante.
- Cirurgiã. Quero operar cérebros.
- Isso ainda é melhor. Mas tens de te habituar a dizer que vais ser neurocirurgiã.
- Isso mesmo. Neurocirurgiã. Afastem-se todos! Vou ser neurocirurgiã.
Nunca ninguém saberá quantas carreiras médicas reais ou imaginárias despertam na infância durante o entorpecimento pós-operatório. Ao longo dos anos, muitas crianças têm comunicado essa ambição a Henry Perowne, durante as suas rondas, mas nunca nenhuma a assumiu com a intensidade com que Andrea Chapman o faz naquele momento. Está demasiado excitada para estar deitada e tapada. Tenta chegar-se para cima, apoia o cotovelo no colchão e descansa a cabeça sobre a mão, o melhor que pode porque ainda tem o dreno. Baixa os olhos e pensa cuidadosamente antes de perguntar:
- Esteve a fazer uma operação?
- Estive. Um homem que caiu das escadas e partiu a cabeça.
Mas não é no doente que está interessada.
- Esteve lá o Dr. Browne?
- Esteve.
Finalmente. Olha para Henry com uma expressão onde se misturam honestidade e súplica. Estão a chegar ao âmago do segredo.
- Ele é um médico maravilhoso, não é?
- É muito bom. O melhor. Gostas dele, não gostas? Sem conseguir falar, ela acena com a cabeça, e Henry
espera algum tempo.
- Estás apaixonada por ele.
Ao ouvir as palavras sagradas, ela estremece e depois olha rapidamente para a cara dele à procura de algum indício de troça. Mas ele está com um ar impenetravelmente grave.
- Não achas que ele é muito velho para ti? - pergunta-lhe delicadamente.
- Tenho catorze anos - protesta. - O Rodney só tem trinta e um. Sabe... - Já está sentada, ainda com o caderno cor-de-rosa agarrado ao peito, feliz por estar finalmente a falar do único assunto que verdadeiramente lhe interessa. - Ele chega aqui e senta-se aí no sítio onde o senhor está e começa a dizer-me que, se quero ser médica, preciso de estudar, e essas coisas, e parar de andar metida em grupos e essas coisas, e nem sequer sabe do que está a acontecer entre nós. Está a acontecer sem ele. Não faz a mínima ideia! Quer dizer, é mais velho do que eu, é um cirurgião importante e essas coisas todas, mas é tão ingénuo!
Explica-lhe o seu plano. Assim que acabar o curso, pelos cálculos de Henry, daí a vinte e cinco anos, vai ter com Rodney à Guiana para o ajudar na clínica dele. Depois de mais cinco minutos a ouvir falar de Rodney, Perowne levanta-se para se ir embora. Quando chega à porta, ela pergunta-lhe:
- Lembra-se de ter dito que havia de fazer um vídeo da minha operação?
- Lembro.
- Posso vê-lo?
- Acho que sim. Mas tens a certeza que queres vê-lo?
- Oh, meu Deus. Eu vou ser neurocirurgiã. Já se esqueceu? Preciso de o ver. Quero saber como é a minha cabeça por dentro. Depois vou ter de o mostrar ao Rodney.
Antes de sair, Perowne informa o enfermeiro de que Andrea está acordada e animada, e depois apanha o elevador para o terceiro andar e percorre o longo corredor que passa por trás do serviço de neurocirurgia e vai dar à entrada principal da unidade de cuidados intensivos. Por entre uma penumbra tranquilizadora, percorre a larga avenida de camas com as máquinas que as vigiam e as suas luzes coloridas a piscarem. Fazem-lhe lembrar anúncios de néon numa rua deserta. Aquela sala tem a tranquilidade efémera de uma cidade antes do amanhecer. O enfermeiro de serviço, Brian Reid, natural do Tyneside, está sentado a uma mesa a preencher uns impressos e comunica-lhe que todos os sinais vitais de Baxter estão bons, que já acordou e agora está a dormitar. Reid faz um aceno significativo na direcção dos dois polícias sentados um de cada lado da cama de Baxter. A intenção de Perowne era ir para casa assim que o estado do seu doente fosse estável, mas ao sair de junto da secretária dá consigo a dirigir-se para a cama de Baxter. Quando se aproxima, os dois polícias, aborrecidos ou meio adormecidos, levantam-se e explicam-lhe educadamente que vão esperar lá fora, no corredor.
Baxter está deitado de costas, com os braços estendidos ao lado do corpo, ligado a todos os sistemas e a respirar com facilidade pelo nariz. Não tem qualquer tremor nas mãos.
O sono é a sua única moratória. O sono ou a morte. A ligadura na cabeça não lhe dá o ar nobre que dava a Andrea. Com a barba por fazer e um inchaço escuro por baixo dos olhos parece um pugilista que acabou de ficar inconsciente, ou um cozinheiro exausto a dormitar na despensa entre dois turnos. O sono ajudou-o a relaxar o maxilar e atenuou a sua expressão simiesca. A testa não está enrugada, como é costume, por causa da injustiça ultrajante da sua situação, e deu-lhe um ar mais calmo e perspicaz.
Perowne puxa uma cadeira para junto da cama e senta-se. Uma doente que está ao fundo da sala grita, talvez a dormir, um grito agudo de espanto, repetido três vezes. Sem se voltar, apercebe-se de que o enfermeiro se dirige para ela. Olha para o relógio. Três e meia. Sabe que devia ir-se embora, que não pode adormecer ali sentado. Mas agora que está ali, quase por acidente, tem de ficar algum tempo e tem a certeza de que não vai adormecer, porque está a sentir demasiadas coisas, está desperto por muitos impulsos contraditórios. Os seus pensamentos adquiriram um carácter sinuoso e são atiçados pela mesma força ondulante que está a fazer todo o espaço da sala encrespar-se e também o chão por baixo da sua cadeira. As sensações assemelham-se de certa forma à luz, que vem em ondas, como costumavam dizer nas aulas de Física. Tem de ficar ali e, como é seu hábito, decompor os seus elementos, os seus quanta, e descobrir todas as causas distantes e próximas; só então saberá o que fazer, qual a atitude correcta a tomar. Põe a mão à volta do pulso de Baxter para ver como está a pulsação. É desnecessário, porque o monitor está a dar esse valor em números azuis brilhantes: sessenta e cinco pulsações por minuto. Fá-lo porque quer. Foi uma das primeiras coisas que aprendeu a fazer enquanto estudante. É simples, uma questão de contacto, e tranquiliza o doente, desde que seja feita com um conhecimento de causa sem vacilações.
Contar os batimentos, parecidos com passos suaves, durante quinze segundos e depois multiplicar por quatro. Vê os polícias que estão no corredor pelo vidro das portas de vaivém. Passa muito mais tempo do que um quarto de minuto. A verdade é que continua a segurar a mão de Baxter enquanto tenta esquadrinhar e ordenar os seus pensamentos e decidir exactamente o que deve ser feito.
Rosalind deixou uma luz acesa no quarto, ao lado do sofá, por baixo do espelho; o reóstato está rodado de forma que o candeeiro dê uma luz fraca, e a lâmpada ilumina menos do que uma vela. Está deitada de lado, aninhada, com a roupa amarfanhada junto do estômago e as almofadas no chão, indicações seguras de um sono agitado. Fica um minuto, talvez mais, aos pés da cama a observá-la, para ver se foi ele que perturbou o sono dela quando entrou. Está com um ar jovem - o cabelo caído para a frente, sobre o rosto, dá-lhe uma aparência despreocupada, dissoluta. Vai à casa de banho e despe-se quase às escuras porque não quer ver-se no espelho. A imagem do seu ar exausto pode desencadear as habituais meditações sobre o envelhecimento, que iriam certamente afectar o seu sono. Toma um duche para retirar do corpo o suor da concentração e todos os vestígios do hospital. Imagina que tem nos poros da testa o pó do osso serrado do crânio de Baxter e esfrega-se vigorosamente com o sabonete. Quando está a limpar-se repara que, mesmo quase sem luz, a nódoa negra é bem visível no seu peito e parece até ter aumentado, como uma mancha num tecido, mas quando lhe toca já lhe dói menos. Agora o momento em que recebeu aquele murro e sentiu o frémito intenso de uma onda de choque a percorrer-lhe o corpo parece-lhe uma recordação longínqua, algo que aconteceu há meses. Mais um insulto que uma dor. Talvez fosse melhor acender a luz e examinar a ferida.
Vai para o quarto, ainda embrulhado na toalha, e apaga a luz. Uma das portadas está ligeiramente aberta, permitindo a entrada de um feixe esbatido de luz branca, que bate no chão e se prolonga até à parede. Não se dá ao trabalho de fechar a portada. A escuridão total, a privação dos sentidos, poderia activar os seus pensamentos. É melhor olhar fixamente para qualquer coisa e esperar que as pálpebras comecem a ficar pesadas. O seu cansaço começa já a parecer frágil, duvidoso, como uma dor que aparece e desaparece. Tem de evitar a todo o custo pensar. De pé, ao lado da cama, hesita. A luz permite-lhe ver que Rosalind puxou a roupa toda para ela e a prendeu debaixo dela e contra o peito. Se puxar a roupa, vai de certeza acordá-la, mas está frio de mais para dormir destapado. Vai à casa de banho buscar dois roupões de turco para servirem de cobertores. Ela não demorará muito a voltar-se e nessa altura ele puxará a roupa.
Mas quando vai deitar-se Rosalind põe a mão no braço dele e murmura:
- Passei o tempo a sonhar que eras tu. E agora és mesmo.
Levanta a roupa e permite que ele entre na tenda do seu calor. A sua pele está quente e a dele fria. Ficam deitados de lado, virados um para o outro. Quase não consegue vê-la, mas os seus olhos são dois pontos de luz iluminados pela faixa de luz branca que incide na parede por trás deles. Põe os braços à volta dela, Rosalind chega-se mais para ele e ele dá-lhe um beijo na cabeça.
- Cheiras bem - diz Rosalind.
Ele balbucia qualquer coisa que é vagamente um agradecimento. Segue-se um silêncio, durante o qual avaliam a possibilidade de estarem perante mais uma noite agitada até acabarem por adormecer nos braços um do outro. Ou talvez estejam apenas à espera do início de qualquer coisa.
Passado algum tempo, Henry diz-lhe em voz baixa:
- Diz-me o que estás a sentir. - Ao dizê-lo, põe a mão nas costas dela, na zona dos rins.
Ela expira bruscamente. Ele fez-lhe uma pergunta difícil.
- Zangada - responde por fim. Como o diz num sussurro, não parece convincente. Por isso acrescenta: - E ainda aterrorizada por causa deles.
Henry começa a tentar tranquilizá-la, dizendo-lhe que nunca mais voltarão, mas ela interrompe-o.
- Não é isso. O que eu quero dizer é que tenho a sensação de que eles estão no quarto. De que estão aqui. Continuo com medo.
Sente as pernas dela começarem a tremer, puxa-a mais para ele e beija-lhe o rosto.
- Querida - murmura.
- Desculpa. Estava a tremer assim quando vim para a cama. Depois passou. Meu Deus! Quem me dera que parasse.
Henry estende o braço e põe-lhe a mão sobre as pernas. O tremor parece vir dos seus joelhos, em espasmos contraídos, secos, como se os seus ossos estivessem a desfazer-se nas articulações.
- Estás em choque - diz-lhe, enquanto lhe massaja as pernas.
- Meu Deus - repete Rosalind, sem acrescentar mais nada.
Só ao fim de vários minutos é que os tremores desaparecem. Durante todo esse tempo, ele abraça-a, embala-a, diz-lhe que a ama.
Quando finalmente ela está calma, diz com a sua habitual voz sensata:
- Também estou zangada. Não consigo evitá-lo. Quero que ele seja castigado. Odeio-o, quero que ele morra. Perguntaste-me o que eu estava a sentir, não o que estava a pensar. Aquele homem mau, desprezível, o que ele fez ao John, e obrigar a Daisy a fazer aquilo, e apontar-me a faca e obrigar-te a ires lá acima. Pensei que nunca mais te ia ver com vida...
Pára, e ele fica à espera. Quando volta a falar, o seu tom é mais decidido. Estão outra vez voltados um para o outro, e ele está a segurar a mão dela e a acariciá-la com o polegar.
- Quando estava à porta contigo e te falei de vingança estava com medo era dos meus próprios sentimentos. Achei que no teu lugar teria feito qualquer coisa de terrível àquele homem. Estava com medo que sentisses o mesmo que eu e te metesses num grande sarilho.
Henry tem tantas coisas para lhe dizer, há tantas coisas de que queria falar com ela, mas não é a altura certa. Sabe que não obterá dela as respostas que quer. Fica para o dia seguinte, quando ela estiver menos zangada, antes de a polícia chegar.
Rosalind procura os lábios dele com as pontas dos dedos e beija-os.
- O que aconteceu na operação?
- Correu bem. Foi uma operação de rotina. Perdeu muito sangue. O Rodney portou-se bem, mas podia não ter sido capaz de lidar com aquilo sozinho.
- Quer dizer que esse tipo, o Baxter, vai sobreviver e ser acusado.
Henry limita-se a responder com um hum nasal quase de assentimento, sem se comprometer. Terá de pensar cuidadosamente qual o momento em que irá abordar o assunto. No domingo de manhã, o café em canecas grandes, a estufa banhada pelo sol de Inverno, os jornais que detestam mas lêem sempre; Rosalind a chegar-se para a frente para lhe tocar na mão, a olhar para cima, e ele a ver no rosto dela a inteligência calma, concentrada, pronta a perdoar. Abre os olhos no escuro e descobre que adormeceu, talvez apenas por alguns segundos.
- Ficou terrivelmente bêbedo, piegas, o costume - está Rosalind a dizer. - Foi difícil aturá-lo depois daquilo tudo. Mas os miúdos foram fantásticos. Foram levá-lo de táxi, e o médico do hotel foi ver o nariz dele.
Henry tem a sensação passageira de viajar através da noite. Uma vez ele e Rosalind apanharam um comboio com carruagens-cama de Marselha para Paris e deitaram-se os dois, muito apertados no beliche de cima, para verem a França adormecida a passar por eles. Ficaram a conversar até ao romper do dia. Esta noite é a própria conversa que é a viagem.
Naquele estado confortável, de deriva, só consegue sentir ternura pelo sogro.
- Mas ele foi magnífico - diz. - Podia ter-se deixado intimidar. E disse à Daisy o que devia fazer.
- Pois foi. Foi corajoso - concorda Rosalind. - Mas tu foste espantoso. Percebi logo desde o princípio que estavas a fazer planos, a fazer cálculos. Vi-te a olhares para o Theo.
Henry pega-lhe na mão e beija-lhe os dedos.
- Nenhum de nós passou o que tu passaste. Foste fantástica.
- Foi a Daisy que me deu força. Foi tão corajosa...
- E o Theo também. Quando voou por aquelas escadas acima...
Durante alguns minutos os acontecimentos daquela noite são transformados numa aventura colorida, num drama de vontades, força interior, qualidades de carácter desconhecidas e só revelados sob pressão. Costumavam conversar quando toda a família ia fazer alpinismo nas montanhas da Escócia. As coisas corriam sempre mal, mas de uma forma interessante, divertida. Agora, subitamente animados, exultam de orgulho e, como é familiar e menos absurdo do que elogiarem-se um ao outro, elogiam os filhos. Nos últimos vinte anos Henry e Rosalind passaram muitas horas a fazer exactamente aquilo, sozinhos, a falar sobre os filhos. Os últimos momentos brilham na escuridão. Quando Theo o agarrou pela lapela, quando Daisy olhou para ele directamente. Que filhos maravilhosos, tão queridos, que sorte serem os pais deles. Mas uma conversa tão excitada não pode durar muito tempo, as suas palavras começam a parecer vazias e irreais, e eles começam a desistir.
Não podem evitar por muito mais tempo a figura de Baxter no centro do tormento por que passaram: cruel, fraco, sem sentido, desejoso de um confronto. Além disso, estão a falar de Daisy sem abordarem a gravidez dela. Ainda não estão preparados, embora estejam quase.
Depois de uma pausa, Henry diz:
- A questão é esta, de certeza. A mente dele está a deixar de funcionar, e ele achou que vinha tirar uma desforra. Sabe-se lá que emoções arrepiantes e incontroláveis estariam a motivá-lo.
Depois descreve-lhe pormenorizadamente o encontro em University Street, incluindo tudo o que acha que pode ser relevante: o polícia a fazer-lhe sinal de avançar, os manifestantes em Gower Street, os tambores fúnebres, os seus instintos competitivos antes do confronto. Enquanto fala, Rosalind tem a mão sobre o rosto dele. Podiam acender a luz, mas sentem-se reconfortados por aquela escuridão íntima e fiável, pelas carícias infantis, assexuadas, por estarem a conversar pela noite dentro. Daisy e Theo costumavam fazer aquilo no último andar da casa com os amigos que iam lá dormir. Ouviam vozes pequeninas a sussurrarem até às três da manhã, a vacilarem por causa do somo e, num acto de coragem, a ganharem fôlego outra vez. Quando Henry tinha dez anos, uma prima um ano mais nova que ele foi passar um mês lá a casa enquanto a mãe estava no hospital. Como não havia mais nenhum sítio onde ela pudesse dormir e ele tinha uma cama de casal no quarto, a mãe pô-la a dormir com ele. Henry e a prima ignoravam-se durante o dia. Mona era gorda, usava uns óculos com umas lentes muito grossas, faltava-lhe um dedo e, pior do que tudo, era rapariga, mas na primeira noite uma voz desprovida do corpo a que pertencia, vinda de um monte quente do outro lado da cama, começou a contar em surdina a epopeia da visita que fizera com a escola a uma fábrica de doces, os chocolates a caírem em cascata, a máquina que girava tão depressa que era invisível, e depois o desmembramento rápido, indolor, o jacto de sangue que «como um espanador» chegou ao casaco de um professor, as amigas a desmaiarem e o capataz de gatas por baixo da máquina à procura da «parte» que faltava. Agitado, Henry só conseguiu responder com um salto na cama, mas mesmo assim Mona agradeceu, e foi assim que construíram a sua cápsula do tempo, onde partilhavam as suas vidas ainda curtas e uma capacidade de invenção suficiente para ficarem a contar anedotas horríveis pela noite dentro, até ao nascer de mais um dia de Verão, e para descobrirem novos temas para as outras noites.
Depois de Henry acabar a sua descrição dos acontecimentos, Rosalind diz:
- Claro que não foi um abuso de autoridade. Eles podiam ter-te morto.
Não era esta a conclusão que ele queria que ela tirasse. Organizara os pormenores de forma a levá-la numa outra direcção. Está prestes a tentar de novo, mas ela conta uma história sua. São assim estas viagens nocturnas, os passos, as sequências não são lógicas.
- Enquanto estava à tua espera hoje à noite, antes de adormecer, estive a tentar calcular o tempo que ele teve a faca encostada ao meu pescoço. Na minha memória não foi tempo nenhum, mas não quero com isto dizer que me tenha parecido pouco tempo. É como se tivesse sido uma coisa sem tempo, nem um minuto, nem uma hora, apenas um facto...
Esta recordação faz voltar os tremores, agora mais fracos, até que se desvanecem. Henry aperta-lhe a mão com força.
- Se calhar foi porque só estava a sentir uma coisa, terror, só terror, sem sentir sequer o tempo a passar. Mas não foi só isso. Senti outras coisas.
Faz uma longa pausa. Sem conseguir interpretar a expressão dela, hesita em encorajá-la a continuar. Por fim pergunta:
- Que outras coisas?
O seu tom de voz é mais de meditação que de angústia.
- Em ti. A única vez em que me senti tão aterrorizada e indefesa foi antes de ser operada, quando ainda pensava que ia ficar cega. Quando foste para junto de mim enquanto estava à espera. Estavas tão desajeitado, mas tão cuidadoso comigo. As mangas da tua bata davam-te quase pelos cotovelos. Sempre disse que foi nesse momento que me apaixonei por ti. E acho que foi. Às vezes acho que inventei isso e que foi mais tarde. Esta noite o terror ainda foi maior, e tu estavas lá outra vez, a tentar falar comigo através dos teus olhos. Continuavas lá. Ao fim de todos estes anos. Foi a isso que me agarrei. A ti.
Sente os dedos dela percorrerem o seu rosto e depois beija-o. Já não é um beijo tão infantil, as suas línguas tocam-se.
- Mas foi a Daisy que te salvou. Fê-lo mudar de ideias com aquele poema. Do Arnold quê?
- Matthew Arnold.
Lembra-se do corpo dela, da sua palidez, da bola compacta onde está guardado o seu neto, já com cabeça, com o sistema nervoso a organizar-se, com um cérebro do tamanho de uma cabeça de alfinete. Chega a esse ponto o que a matéria consegue fazer sozinha na escuridão de um útero.
Percebendo o significado do seu silêncio, Rosalind diz:
- Voltei a falar com ela. Está apaixonada, está entusiasmada, vai ter o bebé. Temos de a apoiar, Henry.
- Pois tenho - diz. - Pois temos.
Tem os olhos fechados e está a escutar Rosalind com toda a atenção. A vida daquele bebé está a ganhar forma. Um ano em Paris com os pais babados e depois em Londres, onde o pai recebeu uma proposta de um cargo bom numa escavação importante, uma villa romana na parte leste da City. Talvez fiquem todos a morar lá em casa durante algum tempo. A casa é grande, seiscentos e quarenta e oito metros quadrados, e está a precisar do som da voz de uma criança.
Sente o seu corpo, do tamanho de um continente, espraiar-se pela cama. É enorme, abrangente, imune, dirá que sim a qualquer plano baseado na ternura e no amor. Que o bebé dê os primeiros passos e diga as primeiras palavras naquela casa, naquele palácio. Daisy quer o bebé, por isso que assim seja da melhor maneira possível. Se o seu destino é ser poeta, tirará a sua poesia daí. É um tema tão bom como uma sucessão de amantes. Não consegue mexer a cabeça, quase não consegue mexer a mão para acariciar a de Rosalind. No momento em que lhe desvenda como será o seu futuro, a organização da casa, segue-a atentamente, usufruindo do prazer que retira da sua voz. O primeiro choque já passou. Vai correr tudo bem. E Theo também tem andado a falar dos seus planos, que o levarão para Nova Iorque durante quinze meses, com os New Blue Rider como banda residente de um clube de East Village. Tem de ser, a música de Theo precisa disso, e eles farão os possíveis para que corra tudo bem. Vão ajudá-lo a arranjar casa, hão-de visitá-lo. O rei faz troar o seu consentimento.
Do outro lado da praça, o gemido de uma ambulância a seguir a toda a velocidade para sul, por Charlotte Street, excita-o um pouco. Apoia-se num cotovelo e aproxima-se, ficando com o rosto sobre o dela.
- É melhor irmos dormir.
- Pois é. Os polícias disseram que vinham às dez. Mas quando acabam de se beijar ele diz:
- Toca-me.
Quando essa sensação doce se apodera dele, ouve-a dizer:
- Diz-me que és meu.
- Sou teu. Inteiramente teu.
- Toca-me nos seios. Com a língua.
- Rosalind. Desejo-te tanto.
É este ponto que marca o fim do seu dia. É um momento intenso, mais penetrante do que o começo preguiçoso e afectuoso daquele sábado. Os seus movimentos são rápidos e ansiosos, mais urgentes do que felizes. É como se tivessem regressado de exílio, ou saído da prisão para um banquete. Os seus apetites são barulhentos, os modos agressivos. Não conseguem confiar plenamente na sua sorte, querem ter tudo o que puderem no mais curto espaço de tempo. Também sabem que, lá ao fundo, depois de terem reclamado a propriedade um do outro, está a promessa do esquecimento.
A certa altura ela sussurra-lhe:
- Meu querido. Podíamos ter sido mortos e estamos vivos.
Estão vivos para o amor, mas apenas por um breve instante. O fim chega com uma queda súbita, tão concentrada no seu prazer que seria doloroso prolongá-la, seria insuportavelmente incómoda, como uma terminação nervosa a ser arrancada. Depois não se separam. Ficam imóveis no escuro, a sentir os seus corações acalmarem. Henry sente a sua exaustão e a súbita clareza proporcionada pela libertação sexual fundirem-se numa coisa só, seca e plana como um deserto. Agora tem de começar a fazer a sua travessia sozinho, e não se importa. Dizem finalmente boa-noite um ao outro, com um simples contacto mais forte das mãos - estão em carne viva, demasiado para se beijarem - e Rosalind volta-se para o lado dela e daí a poucos segundos já está a respirar profundamente.
Henry ainda não consegue esquecer-se. Pode ter chegado àquele ponto em que é o próprio cansaço que impede uma pessoa de dormir. Está deitado de costas, à espera, pacientemente, com a cabeça voltada para a faixa de luz branca na parede, consciente de uma pressão desagradável a aumentar na bexiga. Ao fim de alguns minutos apanha um dos roupões do chão e vai à casa de banho. Sente o chão de mármore gelado sob os seus pés. Os cortinados abertos nas janelas voltadas a sul deixam ver algumas estrelas
num céu com nuvens de cor alaranjada. São cinco e um quarto e já se ouve o barulho do trânsito em Euston Road. Depois de urinar debruça-se no lavatório para beber água da torneira. De volta ao quarto ouve o ruído distante de um avião, que deve ser o primeiro da hora de ponta matinal em Heathrow, e, atraído pelo som, vai à janela onde esteve antes e abre as portadas. Prefere ficar ali de pé alguns minutos a olhar lá para fora a estar deitado à espera que o sono chegue. Abre a janela sem fazer barulho. O ar está mais quente que da última vez, mas mesmo assim sente-se arrepiado. A luz também é mais suave. A praça, sobretudo os ramos dos plátanos do jardim, não tem os contornos tão definidos, que assim parecem fundir-se uns nos outros. Porque será que as temperaturas baixas definem tão bem os objectos?
Os bancos perderam o seu ar expectante, os caixotes do lixo foram despejados, o pavimento foi varrido. A enérgica equipa de coletes amarelos deve ter acabado o trabalho durante o serão. Henry procura alguma segurança em toda aquela ordem e na recordação da praça nos seus melhores momentos, os almoços nos dias de semana, com o tempo quente, quando os funcionários das empresas de produção, publicidade e design da zona vão para ali com as suas sanduíches e as suas caixas de salada e os portões do jardim estão abertos. Recostam-se na relva em grupos calmos, homens e mulheres de várias raças, na maioria entre os vinte e os quarenta anos, confiantes, alegres, sem constrangimentos, com corpos bonitos graças aos exercícios nos seus ginásios privados, sentindo-se em casa na sua cidade. Há tanta coisa a separá-los das várias personagens abatidas que assombram aqueles bancos. O trabalho é um sinal exterior. Não pode ser apenas uma questão de classe ou de oportunidades. Há bêbedos e drogados de todos os extractos sociais, tal como acontece com os empregados de escritório. Alguns dos mais desgraçados foram educados em colégios particulares. Perowne, que reduz tudo à sua profissão, não consegue deixar de pensar que está tudo escrito no código molecular, nas dobras e pregas do carácter. É um destino sombrio não conseguir ganhar a vida, não conseguir resistir a mais uma bebida, não conseguir lembrar-se hoje do que decidiu ontem. Não há justiça social capaz de curar ou dispersar aquele exército debilitado que assombra os lugares públicos de todas as cidades. Então que se há-de fazer? Henry aconchega mais o roupão ao corpo. É preciso saber reconhecer o azar quando se está perante ele, é preciso cuidar daquelas pessoas. É possível salvar alguns das suas dependências - a outros só é possível proporcionar-lhes algum bem-estar, minimizar o seu sofrimento.
Seja como for. Não é nenhum teórico social e é claro que está a pensar em Baxter, esse nó inextricável de sofrimento. Pode ser o facto de pensar nele que o deixa tremer ou podem ser os efeitos físicos do cansaço - tem de pôr a mão no parapeito para se sentir mais estável. Sente-se como se rodopiasse numa roda gigante, como o Eye na margem sul do Tamisa, prestes a chegar ao ponto mais alto - está num ponto-charneira de percepção, antes da descida, e consegue ver calmamente à sua frente. Ou então talvez esteja a imaginar a Terra a voltar para leste, a levá-lo para o nascer do Sol à extraordinária velocidade de mil e seiscentos quilómetros por hora. Se se basear no sono e não no relógio para dividir os dias, é ainda o seu sábado que está a cair à sua frente, tão profundo como toda uma vida. E dali, do ponto mais alto do seu dia, consegue ver muito longe, antes de a descida começar. O domingo não parece trazer-lhe a mesma promessa e vigor do dia anterior. A praça lá em baixo, deserta e imóvel, não lhe dá qualquer pista para o futuro. Mas do ponto onde se encontra consegue ver coisas que sabe que têm de acontecer. Em breve chegará a hora da sua mãe, a notícia virá do lar, mandá-lo-ão chamar, e ele e a sua família sentar-se-ão junto à cama dela, no seu quarto minúsculo com os seus ornamentos, a beber o chá forte e a assistir aos seus últimos momentos, ao desaparecimento da velha nadadora. Neste momento, o facto de pensar nisso não o faz sentir nada, mas sabe que a dor irá surpreendê-lo, porque isso já aconteceu uma vez.
No seu declínio houve um momento em que finalmente teve de a tirar de sua casa, a velha casa de família onde crescera, e de a levar para o lar. A doença estava a apagar as rotinas domésticas que antes eram tão sagradas para ela. Deixava o forno ligado toda a noite, escondia a chave da porta da rua de si própria em frestas nas tábuas do soalho, confundia champô com lixívia. E, para além de tudo isto, havia momentos de confusão existencial em que dava consigo própria na rua, ou numa loja, ou em casa de alguém, sem saber de onde tinha vindo, quem eram aquelas pessoas, onde morava e o que teria de fazer a seguir. Passado um ano já tinha esquecido não só a sua casa, mas também a sua vida. Contudo, vender essa casa seria uma espécie de traição, e Henry não fez nada nesse sentido. De vez em quando ia lá com Rosalind, à casa da sua infância, e no Verão cortava a relva. Ficou tudo no lugar onde estava, à espera: as luvas de plástico amarelas penduradas num gancho na cozinha, a gaveta dos panos de cozinha, o burro de loiça com um cestinho com palitos. Começou a avolumar-se um cheiro a abandono, os seus bens começaram a ser invadidos por um ar de negligência que não tinha nada a ver com pó. Até vista da rua a casa tinha um ar de derrota, e quando uns miúdos atiraram uma pedra pela janela da sala numa tarde de Novembro percebeu que tinha de fazer qualquer coisa.
Um fim-de-semana foi com Rosalind e os miúdos esvaziar a casa. Todos escolheram uma recordação. Parecia uma falta de respeito não o fazer. Daisy trouxe um prato de latão do Egipto, Theo um relógio de corrente, Rosalind uma fruteira de porcelana. Henry trouxe uma caixa de sapatos cheia de fotografias.
Alguns sobrinhos e sobrinhas ficaram com outras coisas. A cama de Lily, um aparador, dois guarda-fatos, as carpetes e uma cómoda foram vendidos. As roupas, as loiças e os ornamentos que ninguém quis foram empacotados e dados a obras de caridade. Henry nunca percebera em que medida essas obras viviam dos mortos. O resto foi metido em contentores do lixo. Fizeram tudo em silêncio, como ladrões. Não lhes parecia adequado terem a telefonia ligada. Bastou um dia para desintegrar a existência de Lily.
Estavam a desmontar o cenário de uma peça, de um humilde drama doméstico, sem autorização do único actor. Começaram pela divisão que ela dizia ser a casa da costura, o antigo quarto de Henry. Lily nunca mais voltaria, já não sabia o que era fazer malha, mas embrulhar as agulhas dela, os milhares de linhas, uma mantinha de bebé por acabar, para os dar a estranhos era bani-la do seio dos vivos. Fizeram tudo muito depressa, num frenesim. Henry passou o dia a repetir a si próprio que ela não estava morta. Mas a vida dela, todas as vidas, parecia-lhe ténue quando via a rapidez com que se podia empacotar, distribuir ou deitar fora todos os seus objectos, todos os seus pormenores. Os objectos tornavam-se lixo assim que eram separados do seu proprietário ou do seu passado. Sem ela, o abafador do bule era repelente, com os seus desenhos esbatidos e as pálidas nódoas castanhas sobre o tecido barato e um forro pateticamente fino. À medida que as prateleiras e as gavetas se iam esvaziando, Henry ia verificando que de facto ninguém tem nada. É tudo alugado, emprestado. Os nossos bens sobrevivem-nos, somos nós que acabamos por abandoná-los. Passaram o dia inteiro a trabalhar e encheram vinte e três sacos de lixo.
Sente-se magro e frágil com o roupão, de frente para a manhã que ainda está escura, que ainda faz parte do dia de ontem. Sim, isso acontecerá, e ele fará o que for preciso. Uma vez ela levou-o ao cemitério que havia perto da casa deles e mostrou-lhe as fileiras de pequenos armários de metal metidos na parede onde queria que ficassem as suas cinzas. Tudo isso terá forçosamente de acontecer, e eles assistirão, de cabeça curvada, a ouvir a Oração dos Mortos. O homem que nasce do ventre da mulher tem pouco tempo para viver... Ouviu isso muitas vezes ao longo dos anos, mas só se lembra de algumas partes. A sua presença neste mundo é passageira, como se fosse uma flor. Depois será a vez de John Grammaticus, uma dessas doenças que transfiguram as pessoas que bebem muito ou uma estocada final no coração ou no cérebro. Será um rude golpe para todos, para cada um à sua maneira, mas menor para Henry que para os outros. Esta noite o velho poeta foi corajoso, fingindo que não lhe doía o nariz e dando a Daisy a sugestão certa. E, quando chegar esse momento, haverá o problema do castelo, se Teresa casar com John e reclamar a sua parte na herança, e Rosalind, com a sua extraordinária competência em leis, defender o direito a ficar com a casa que pertencia à mãe, a casa onde Daisy, Theo e a própria Rosalind passaram todos os Verões da sua infância. E qual será o papel de Henry? Ser de uma lealdade discreta, mas implacável.
Que mais acontecerá para além das mortes? Theo sairá de casa pela primeira vez - não haverá postais, nem cartas, nem e-mails, apenas telefonemas. Haverá viagens a Nova Iorque para ouvir Theo e a sua banda apresentarem os seus blues aos americanos - podem não gostar - e aproveitar para ver velhos amigos do tempo de Bellevue Hospital. Daisy publicará os seus poemas, terá um bebé e apresentar-lhes-á Giulio. Henry continua a vê-lo como o amante moreno, de tronco nu, do poema que ouviu mal. Um bebé com todo o seu enxoval para dar vida à casa, e alguém, mas não ele, nem Rosalind, a levantar-se durante a noite. Nem Giulio, a menos que seja um italiano diferente dos outros. Tudo isto é muito intenso. E depois ele, Henry, fará cinquenta anos, desistirá do squash e das maratonas, a casa ficará vazia quando Daisy e Giulio se mudarem e Theo arranjar também uma casa para si, e então Henry e Rosalind desabarão um sobre o outro, ficarão ainda mais unidos, depois de concluída a sua tarefa de criarem os filhos e de lançarem no mundo jovens adultos. Aquela inquietação, a fome que ultimamente tem tido por um outro tipo de vida, vai desaparecer. Chegará depois a altura em que fará menos operações e mais trabalho administrativo - será outro tipo de vida - e Rosalind deixará o jornal para escrever o seu livro, e chegará então o tempo em que já não terão força para a praça, para os drogados, para o barulho e a poluição do trânsito. Talvez uma bomba pela causa da Jihad os empurre para junto de todos os idosos dos arredores, ou para uma zona ainda mais no interior, ou até para o castelo - e os seus sábados transformar-se-ão em domingos.
Atrás dele, como se tivesse sido agitada pelos pensamentos dele, Rosalind estremece, geme e mexe-se mais uma vez e depois fica outra vez em silêncio. Henry volta-se de novo para a janela. Londres, a pequena parte de Londres que é sua, estende-se à sua frente, sem poder ser defendida, à espera da sua bomba, como centenas de outras cidades. A hora de ponta será uma altura boa. Será parecido com o choque de comboios em Paddington - carris contorcidos, carruagens enfaixadas e voltadas, macas a passarem por janelas partidas, o plano de emergência do hospital a ser accionado. Berlim, Paris, Lisboa. As autoridades estão de acordo quanto à inevitabilidade de um ataque. Ele vive num outro tempo - o facto de os jornais o dizerem não significa que seja verdade. Mas do ponto mais alto do seu dia trata-se de um futuro que é difícil prever, de um horizonte cheio de possibilidades. Há cem anos, um médico de meia-idade que estivesse àquela janela com o seu roupão de seda, menos de duas horas antes do amanhecer de um dia de Inverno, poderia ter meditado sobre o futuro do novo século. Fevereiro de 1903. Poder-se-ia invejar aquele cavalheiro eduardiano por tudo o que ele ainda não sabia.
Se tivesse filhos, poderia perdê-los daí a menos de uma dúzia de anos no Somme. E quantos corpos terão contado Hitler, Estaline, Mao? Cinquenta milhões, cem milhões? Se descrevêssemos ao bom médico - um produto afável de várias décadas de paz e prosperidade - o inferno que tinha à sua frente, se o avisássemos, ele não acreditaria. Cuidado com os utopistas, homens zelosos certos do caminho para a ordem social ideal. E agora ei-los de novo, os totalitários, mas de um outro tipo, ainda poucos e fracos, mas a aumentarem e a ficarem cada vez mais zangados e mais sequiosos por outra carnificina. Cem anos sem a questão se resolver. Mas tudo isto poderá ser uma indulgência, uma fantasia inútil, exagerada, um pensamento nocturno sobre uma perturbação passageira que o tempo e o bom senso hão-de resolver. O próximo promontório, o que está mais próximo de si, é mais fácil de interpretar - tão certo como a sua mãe morrer, irá jantar com o professor Taleb num restaurante iraquiano perto de Hoxton. A guerra vai começar no próximo mês - a data exacta até já deve ter sido marcada, como se se tratasse de mais um acontecimento desportivo. Mais tarde estará demasiado calor para matar ou libertar pessoas. Bagdade está à espera das bombas. Onde está agora o desejo de Henry de afastar um tirano? Ao fim do seu dia, daquela noite em particular, sente-se tímido, vulnerável, está sempre a aconchegar mais o roupão à volta do corpo. Um outro avião passa da esquerda para a direita no seu campo de visão, descendo da forma habitual para Heathrow. Agora é mais difícil lembrar-se ou reviver o calor da sua discussão com Daisy. As certezas dissolveram-se em questões a debater; que o mundo que o professor descreveu é intolerável, que, por duvidosos que sejam os motivos americanos, talvez seja melhor e haja menos mortes se esse mundo for desmantelado. Talvez, ouve Daisy dizer-lhe, não chega. Deixaste que a história de um só homem te desse volta à cabeça. Uma mulher com um filho no ventre tem uma autoridade própria. Será capaz de reafirmar a sua esperança numa acção firme de manhã? Neste momento sente apenas medo. É fraco e ignorante, está com medo da forma como as consequências fogem do nosso controlo e provocam novos acontecimentos, novas consequências, até que somos levados para um lugar que nunca imaginámos e que jamais escolheríamos - uma faca apontada à garganta. Um andar abaixo do sítio onde Andrea Chapman sonha ser arrebatada pelo amor improvável de um jovem médico está Baxter, na sua escuridão privada, vigiado por dois polícias. Mas há uma pequena convicção que ajuda Henry a sentir-se seguro. Começou a ganhar forma ao jantar, antes de Jay lhe telefonar, e tomou a decisão final quando estava sentado nos cuidados intensivos, a apalpar o pulso de Baxter. Tem de convencer Rosalind e depois o resto da família, e depois a polícia, a não apresentar queixa. O assunto terá de ser esquecido. Eles que persigam o outro homem. Baxter tem uma fatia cada vez menor de vida que valha a pena viver, antes de se iniciar a sua descida para um pesadelo de alucinações. Henry conseguirá que um ou dois colegas seus, especialistas na matéria, convençam o Ministério Público de que, quando chegar a altura do julgamento, Baxter não estará em condições de se apresentar em tribunal. Pode ser verdade ou não. Depois o sistema, o hospital certo, deverá mantê-lo em segurança, para que não possa causar mais mal. Henry poderá tratar de tudo isso, fazer tudo o que está ao seu alcance para que o doente fique bem instalado. Será isso perdão? Talvez não, não sabe, e de qualquer forma não será ele que estará a concedê-lo. Ou será ele que quer ser perdoado? Afinal foi responsável; há vinte horas atrás atravessou uma rua oficialmente fechada ao trânsito e desencadeou uma série de acontecimentos. Também pode ser fraqueza. Depois de uma certa idade, quando os anos que nos faltam começam a ter um aspecto finito e começamos a sentir o primeiro arrepio por causa de nós mesmos, temos um interesse maior, mais fraterno por um homem que está a morrer. Mas Henry prefere acreditar que é realismo: todos eles ficarão diminuídos se chicotearem um homem que vai a caminho do Inferno. Ao salvar-lhe a vida no bloco operatório, Henry entregou Baxter à sua tortura. Já é vingança suficiente. E nessa área Henry pode exercer a sua autoridade e determinar os acontecimentos. Sabe como funciona o sistema; a diferença entre prestar bons ou maus cuidados de saúde é quase infinita.
Daisy recitou um poema que enfeitiçou um homem. Talvez qualquer poema pudesse ter tido esse efeito e desencadeado uma súbita variação de humor. Mesmo assim, Baxter acreditou na magia, ficou extasiado por ela e lembrou-se de que queria desesperadamente viver. Ninguém pode perdoar-lhe o facto de ter utilizado uma faca. Mas Baxter ouviu o que Henry nunca ouviu, e provavelmente nunca ouvirá, apesar dos esforços de Daisy para o educar. Um poeta qualquer do século xix - Henry ainda tem de descobrir se esse tal Arnold era famoso ou desconhecido - despertou em Baxter um desejo que quase não conseguiu definir. Esse desejo é o seu direito à vida, a uma existência mental, e como ele não durará muito mais tempo, como a porta da sua consciência está a começar a fechar-se, não deve lutar por esse desejo dentro de uma cela, à espera daquele julgamento absurdo. É este o seu destino sombrio e inelutável, ter um erro de repetição nos códigos do seu ser, no seu genótipo, a variante moderna de uma alma, e terá de viver com ele - essa é outra certeza que Henry vê à sua frente.
Sem fazer barulho, fecha a janela. A manhã ainda está escura, e é aquele o momento mais frio da noite. O dia só nascerá depois das sete horas. Três enfermeiras atravessam a praça, a conversar animadamente, dirigindo-se ao seu hospital para começarem o turno da manhã. Henry fecha as portadas, depois vai para a cama e deixa o roupão cair aos seus pés.
Rosalind está voltada de costas para ele com os joelhos dobrados. Fecha os olhos. Desta vez não terá dificuldade em cair no esquecimento. Agora já não há nada que o impeça. O sono já não é um conceito; é uma coisa material, um antigo meio de transporte, um tapete rolante que se move lentamente e que irá transportá-lo até domingo. Encaixa-se nela, no seu pijama de seda, no seu cheiro, no seu calor, na sua forma que tanto ama, e aproxima-se mais dela. Sem ver, beija-lhe a nuca. «Aquilo existe» sempre é um dos seus últimos pensamentos. E depois: «só aquilo existe.» E por fim, já sem forças, a cair: «o dia chegou ao fim.»
Vai para o quarto, ainda embrulhado na toalha, e apaga a luz. Uma das portadas está ligeiramente aberta, permitindo a entrada de um feixe esbatido de luz branca, que bate no chão e se prolonga até à parede. Não se dá ao trabalho de fechar a portada. A escuridão total, a privação dos sentidos, poderia activar os seus pensamentos. É melhor olhar fixamente para qualquer coisa e esperar que as pálpebras comecem a ficar pesadas. O seu cansaço começa já a parecer frágil, duvidoso, como uma dor que aparece e desaparece. Tem de evitar a todo o custo pensar. De pé, ao lado da cama, hesita. A luz permite-lhe ver que Rosalind puxou a roupa toda para ela e a prendeu debaixo dela e contra o peito. Se puxar a roupa, vai de certeza acordá-la, mas está frio de mais para dormir destapado. Vai à casa de banho buscar dois roupões de turco para servirem de cobertores. Ela não demorará muito a voltar-se e nessa altura ele puxará a roupa.
Mas quando vai deitar-se Rosalind põe a mão no braço dele e murmura:
- Passei o tempo a sonhar que eras tu. E agora és mesmo.
Levanta a roupa e permite que ele entre na tenda do seu calor. A sua pele está quente e a dele fria. Ficam deitados de lado, virados um para o outro. Quase não consegue vê-la, mas os seus olhos são dois pontos de luz iluminados pela faixa de luz branca que incide na parede por trás deles. Põe os braços à volta dela, Rosalind chega-se mais para ele e ele dá-lhe um beijo na cabeça.
- Cheiras bem - diz Rosalind.
Ele balbucia qualquer coisa que é vagamente um agradecimento. Segue-se um silêncio, durante o qual avaliam a possibilidade de estarem perante mais uma noite agitada até acabarem por adormecer nos braços um do outro. Ou talvez estejam apenas à espera do início de qualquer coisa.
Passado algum tempo, Henry diz-lhe em voz baixa:
- Diz-me o que estás a sentir. - Ao dizê-lo, põe a mão nas costas dela, na zona dos rins.
Ela expira bruscamente. Ele fez-lhe uma pergunta difícil.
- Zangada - responde por fim. Como o diz num sussurro, não parece convincente. Por isso acrescenta: - E ainda aterrorizada por causa deles.
Henry começa a tentar tranquilizá-la, dizendo-lhe que nunca mais voltarão, mas ela interrompe-o.
- Não é isso. O que eu quero dizer é que tenho a sensação de que eles estão no quarto. De que estão aqui. Continuo com medo.
Sente as pernas dela começarem a tremer, puxa-a mais para ele e beija-lhe o rosto.
- Querida - murmura.
- Desculpa. Estava a tremer assim quando vim para a cama. Depois passou. Meu Deus! Quem me dera que parasse.
Henry estende o braço e põe-lhe a mão sobre as pernas. O tremor parece vir dos seus joelhos, em espasmos contraídos, secos, como se os seus ossos estivessem a desfazer-se nas articulações.
- Estás em choque - diz-lhe, enquanto lhe massaja as pernas.
- Meu Deus - repete Rosalind, sem acrescentar mais nada.
Só ao fim de vários minutos é que os tremores desaparecem. Durante todo esse tempo, ele abraça-a, embala-a, diz-lhe que a ama.
Quando finalmente ela está calma, diz com a sua habitual voz sensata:
- Também estou zangada. Não consigo evitá-lo. Quero que ele seja castigado. Odeio-o, quero que ele morra. Perguntaste-me o que eu estava a sentir, não o que estava a pensar. Aquele homem mau, desprezível, o que ele fez ao John, e obrigar a Daisy a fazer aquilo, e apontar-me a faca e obrigar-te a ires lá acima. Pensei que nunca mais te ia ver com vida...
Pára, e ele fica à espera. Quando volta a falar, o seu tom é mais decidido. Estão outra vez voltados um para o outro, e ele está a segurar a mão dela e a acariciá-la com o polegar.
- Quando estava à porta contigo e te falei de vingança estava com medo era dos meus próprios sentimentos. Achei que no teu lugar teria feito qualquer coisa de terrível àquele homem. Estava com medo que sentisses o mesmo que eu e te metesses num grande sarilho.
Henry tem tantas coisas para lhe dizer, há tantas coisas de que queria falar com ela, mas não é a altura certa. Sabe que não obterá dela as respostas que quer. Fica para o dia seguinte, quando ela estiver menos zangada, antes de a polícia chegar.
Rosalind procura os lábios dele com as pontas dos dedos e beija-os.
- O que aconteceu na operação?
- Correu bem. Foi uma operação de rotina. Perdeu muito sangue. O Rodney portou-se bem, mas podia não ter sido capaz de lidar com aquilo sozinho.
- Quer dizer que esse tipo, o Baxter, vai sobreviver e ser acusado.
Henry limita-se a responder com um hum nasal quase de assentimento, sem se comprometer. Terá de pensar cuidadosamente qual o momento em que irá abordar o assunto. No domingo de manhã, o café em canecas grandes, a estufa banhada pelo sol de Inverno, os jornais que detestam mas lêem sempre; Rosalind a chegar-se para a frente para lhe tocar na mão, a olhar para cima, e ele a ver no rosto dela a inteligência calma, concentrada, pronta a perdoar. Abre os olhos no escuro e descobre que adormeceu, talvez apenas por alguns segundos.
- Ficou terrivelmente bêbedo, piegas, o costume - está Rosalind a dizer. - Foi difícil aturá-lo depois daquilo tudo. Mas os miúdos foram fantásticos. Foram levá-lo de táxi, e o médico do hotel foi ver o nariz dele.
Henry tem a sensação passageira de viajar através da noite. Uma vez ele e Rosalind apanharam um comboio com carruagens-cama de Marselha para Paris e deitaram-se os dois, muito apertados no beliche de cima, para verem a França adormecida a passar por eles. Ficaram a conversar até ao romper do dia. Esta noite é a própria conversa que é a viagem.
Naquele estado confortável, de deriva, só consegue sentir ternura pelo sogro.
- Mas ele foi magnífico - diz. - Podia ter-se deixado intimidar. E disse à Daisy o que devia fazer.
- Pois foi. Foi corajoso - concorda Rosalind. - Mas tu foste espantoso. Percebi logo desde o princípio que estavas a fazer planos, a fazer cálculos. Vi-te a olhares para o Theo.
Henry pega-lhe na mão e beija-lhe os dedos.
- Nenhum de nós passou o que tu passaste. Foste fantástica.
- Foi a Daisy que me deu força. Foi tão corajosa...
- E o Theo também. Quando voou por aquelas escadas acima...
Durante alguns minutos os acontecimentos daquela noite são transformados numa aventura colorida, num drama de vontades, força interior, qualidades de carácter desconhecidas e só revelados sob pressão. Costumavam conversar quando toda a família ia fazer alpinismo nas montanhas da Escócia. As coisas corriam sempre mal, mas de uma forma interessante, divertida. Agora, subitamente animados, exultam de orgulho e, como é familiar e menos absurdo do que elogiarem-se um ao outro, elogiam os filhos. Nos últimos vinte anos Henry e Rosalind passaram muitas horas a fazer exactamente aquilo, sozinhos, a falar sobre os filhos. Os últimos momentos brilham na escuridão. Quando Theo o agarrou pela lapela, quando Daisy olhou para ele directamente. Que filhos maravilhosos, tão queridos, que sorte serem os pais deles. Mas uma conversa tão excitada não pode durar muito tempo, as suas palavras começam a parecer vazias e irreais, e eles começam a desistir.
Não podem evitar por muito mais tempo a figura de Baxter no centro do tormento por que passaram: cruel, fraco, sem sentido, desejoso de um confronto. Além disso, estão a falar de Daisy sem abordarem a gravidez dela. Ainda não estão preparados, embora estejam quase.
Depois de uma pausa, Henry diz:
- A questão é esta, de certeza. A mente dele está a deixar de funcionar, e ele achou que vinha tirar uma desforra. Sabe-se lá que emoções arrepiantes e incontroláveis estariam a motivá-lo.
Depois descreve-lhe pormenorizadamente o encontro em University Street, incluindo tudo o que acha que pode ser relevante: o polícia a fazer-lhe sinal de avançar, os manifestantes em Gower Street, os tambores fúnebres, os seus instintos competitivos antes do confronto. Enquanto fala, Rosalind tem a mão sobre o rosto dele. Podiam acender a luz, mas sentem-se reconfortados por aquela escuridão íntima e fiável, pelas carícias infantis, assexuadas, por estarem a conversar pela noite dentro. Daisy e Theo costumavam fazer aquilo no último andar da casa com os amigos que iam lá dormir. Ouviam vozes pequeninas a sussurrarem até às três da manhã, a vacilarem por causa do somo e, num acto de coragem, a ganharem fôlego outra vez. Quando Henry tinha dez anos, uma prima um ano mais nova que ele foi passar um mês lá a casa enquanto a mãe estava no hospital. Como não havia mais nenhum sítio onde ela pudesse dormir e ele tinha uma cama de casal no quarto, a mãe pô-la a dormir com ele. Henry e a prima ignoravam-se durante o dia. Mona era gorda, usava uns óculos com umas lentes muito grossas, faltava-lhe um dedo e, pior do que tudo, era rapariga, mas na primeira noite uma voz desprovida do corpo a que pertencia, vinda de um monte quente do outro lado da cama, começou a contar em surdina a epopeia da visita que fizera com a escola a uma fábrica de doces, os chocolates a caírem em cascata, a máquina que girava tão depressa que era invisível, e depois o desmembramento rápido, indolor, o jacto de sangue que «como um espanador» chegou ao casaco de um professor, as amigas a desmaiarem e o capataz de gatas por baixo da máquina à procura da «parte» que faltava. Agitado, Henry só conseguiu responder com um salto na cama, mas mesmo assim Mona agradeceu, e foi assim que construíram a sua cápsula do tempo, onde partilhavam as suas vidas ainda curtas e uma capacidade de invenção suficiente para ficarem a contar anedotas horríveis pela noite dentro, até ao nascer de mais um dia de Verão, e para descobrirem novos temas para as outras noites.
Depois de Henry acabar a sua descrição dos acontecimentos, Rosalind diz:
- Claro que não foi um abuso de autoridade. Eles podiam ter-te morto.
Não era esta a conclusão que ele queria que ela tirasse. Organizara os pormenores de forma a levá-la numa outra direcção. Está prestes a tentar de novo, mas ela conta uma história sua. São assim estas viagens nocturnas, os passos, as sequências não são lógicas.
- Enquanto estava à tua espera hoje à noite, antes de adormecer, estive a tentar calcular o tempo que ele teve a faca encostada ao meu pescoço. Na minha memória não foi tempo nenhum, mas não quero com isto dizer que me tenha parecido pouco tempo. É como se tivesse sido uma coisa sem tempo, nem um minuto, nem uma hora, apenas um facto...
Esta recordação faz voltar os tremores, agora mais fracos, até que se desvanecem. Henry aperta-lhe a mão com força.
- Se calhar foi porque só estava a sentir uma coisa, terror, só terror, sem sentir sequer o tempo a passar. Mas não foi só isso. Senti outras coisas.
Faz uma longa pausa. Sem conseguir interpretar a expressão dela, hesita em encorajá-la a continuar. Por fim pergunta:
- Que outras coisas?
O seu tom de voz é mais de meditação que de angústia.
- Em ti. A única vez em que me senti tão aterrorizada e indefesa foi antes de ser operada, quando ainda pensava que ia ficar cega. Quando foste para junto de mim enquanto estava à espera. Estavas tão desajeitado, mas tão cuidadoso comigo. As mangas da tua bata davam-te quase pelos cotovelos. Sempre disse que foi nesse momento que me apaixonei por ti. E acho que foi. Às vezes acho que inventei isso e que foi mais tarde. Esta noite o terror ainda foi maior, e tu estavas lá outra vez, a tentar falar comigo através dos teus olhos. Continuavas lá. Ao fim de todos estes anos. Foi a isso que me agarrei. A ti.
Sente os dedos dela percorrerem o seu rosto e depois beija-o. Já não é um beijo tão infantil, as suas línguas tocam-se.
- Mas foi a Daisy que te salvou. Fê-lo mudar de ideias com aquele poema. Do Arnold quê?
- Matthew Arnold.
Lembra-se do corpo dela, da sua palidez, da bola compacta onde está guardado o seu neto, já com cabeça, com o sistema nervoso a organizar-se, com um cérebro do tamanho de uma cabeça de alfinete. Chega a esse ponto o que a matéria consegue fazer sozinha na escuridão de um útero.
Percebendo o significado do seu silêncio, Rosalind diz:
- Voltei a falar com ela. Está apaixonada, está entusiasmada, vai ter o bebé. Temos de a apoiar, Henry.
- Pois tenho - diz. - Pois temos.
Tem os olhos fechados e está a escutar Rosalind com toda a atenção. A vida daquele bebé está a ganhar forma. Um ano em Paris com os pais babados e depois em Londres, onde o pai recebeu uma proposta de um cargo bom numa escavação importante, uma villa romana na parte leste da City. Talvez fiquem todos a morar lá em casa durante algum tempo. A casa é grande, seiscentos e quarenta e oito metros quadrados, e está a precisar do som da voz de uma criança.
Sente o seu corpo, do tamanho de um continente, espraiar-se pela cama. É enorme, abrangente, imune, dirá que sim a qualquer plano baseado na ternura e no amor. Que o bebé dê os primeiros passos e diga as primeiras palavras naquela casa, naquele palácio. Daisy quer o bebé, por isso que assim seja da melhor maneira possível. Se o seu destino é ser poeta, tirará a sua poesia daí. É um tema tão bom como uma sucessão de amantes. Não consegue mexer a cabeça, quase não consegue mexer a mão para acariciar a de Rosalind. No momento em que lhe desvenda como será o seu futuro, a organização da casa, segue-a atentamente, usufruindo do prazer que retira da sua voz. O primeiro choque já passou. Vai correr tudo bem. E Theo também tem andado a falar dos seus planos, que o levarão para Nova Iorque durante quinze meses, com os New Blue Rider como banda residente de um clube de East Village. Tem de ser, a música de Theo precisa disso, e eles farão os possíveis para que corra tudo bem. Vão ajudá-lo a arranjar casa, hão-de visitá-lo. O rei faz troar o seu consentimento.
Do outro lado da praça, o gemido de uma ambulância a seguir a toda a velocidade para sul, por Charlotte Street, excita-o um pouco. Apoia-se num cotovelo e aproxima-se, ficando com o rosto sobre o dela.
- É melhor irmos dormir.
- Pois é. Os polícias disseram que vinham às dez. Mas quando acabam de se beijar ele diz:
- Toca-me.
Quando essa sensação doce se apodera dele, ouve-a dizer:
- Diz-me que és meu.
- Sou teu. Inteiramente teu.
- Toca-me nos seios. Com a língua.
- Rosalind. Desejo-te tanto.
É este ponto que marca o fim do seu dia. É um momento intenso, mais penetrante do que o começo preguiçoso e afectuoso daquele sábado. Os seus movimentos são rápidos e ansiosos, mais urgentes do que felizes. É como se tivessem regressado de exílio, ou saído da prisão para um banquete. Os seus apetites são barulhentos, os modos agressivos. Não conseguem confiar plenamente na sua sorte, querem ter tudo o que puderem no mais curto espaço de tempo. Também sabem que, lá ao fundo, depois de terem reclamado a propriedade um do outro, está a promessa do esquecimento.
A certa altura ela sussurra-lhe:
- Meu querido. Podíamos ter sido mortos e estamos vivos.
Estão vivos para o amor, mas apenas por um breve instante. O fim chega com uma queda súbita, tão concentrada no seu prazer que seria doloroso prolongá-la, seria insuportavelmente incómoda, como uma terminação nervosa a ser arrancada. Depois não se separam. Ficam imóveis no escuro, a sentir os seus corações acalmarem. Henry sente a sua exaustão e a súbita clareza proporcionada pela libertação sexual fundirem-se numa coisa só, seca e plana como um deserto. Agora tem de começar a fazer a sua travessia sozinho, e não se importa. Dizem finalmente boa-noite um ao outro, com um simples contacto mais forte das mãos - estão em carne viva, demasiado para se beijarem - e Rosalind volta-se para o lado dela e daí a poucos segundos já está a respirar profundamente.
Henry ainda não consegue esquecer-se. Pode ter chegado àquele ponto em que é o próprio cansaço que impede uma pessoa de dormir. Está deitado de costas, à espera, pacientemente, com a cabeça voltada para a faixa de luz branca na parede, consciente de uma pressão desagradável a aumentar na bexiga. Ao fim de alguns minutos apanha um dos roupões do chão e vai à casa de banho. Sente o chão de mármore gelado sob os seus pés. Os cortinados abertos nas janelas voltadas a sul deixam ver algumas estrelas
num céu com nuvens de cor alaranjada. São cinco e um quarto e já se ouve o barulho do trânsito em Euston Road. Depois de urinar debruça-se no lavatório para beber água da torneira. De volta ao quarto ouve o ruído distante de um avião, que deve ser o primeiro da hora de ponta matinal em Heathrow, e, atraído pelo som, vai à janela onde esteve antes e abre as portadas. Prefere ficar ali de pé alguns minutos a olhar lá para fora a estar deitado à espera que o sono chegue. Abre a janela sem fazer barulho. O ar está mais quente que da última vez, mas mesmo assim sente-se arrepiado. A luz também é mais suave. A praça, sobretudo os ramos dos plátanos do jardim, não tem os contornos tão definidos, que assim parecem fundir-se uns nos outros. Porque será que as temperaturas baixas definem tão bem os objectos?
Os bancos perderam o seu ar expectante, os caixotes do lixo foram despejados, o pavimento foi varrido. A enérgica equipa de coletes amarelos deve ter acabado o trabalho durante o serão. Henry procura alguma segurança em toda aquela ordem e na recordação da praça nos seus melhores momentos, os almoços nos dias de semana, com o tempo quente, quando os funcionários das empresas de produção, publicidade e design da zona vão para ali com as suas sanduíches e as suas caixas de salada e os portões do jardim estão abertos. Recostam-se na relva em grupos calmos, homens e mulheres de várias raças, na maioria entre os vinte e os quarenta anos, confiantes, alegres, sem constrangimentos, com corpos bonitos graças aos exercícios nos seus ginásios privados, sentindo-se em casa na sua cidade. Há tanta coisa a separá-los das várias personagens abatidas que assombram aqueles bancos. O trabalho é um sinal exterior. Não pode ser apenas uma questão de classe ou de oportunidades. Há bêbedos e drogados de todos os extractos sociais, tal como acontece com os empregados de escritório. Alguns dos mais desgraçados foram educados em colégios particulares. Perowne, que reduz tudo à sua profissão, não consegue deixar de pensar que está tudo escrito no código molecular, nas dobras e pregas do carácter. É um destino sombrio não conseguir ganhar a vida, não conseguir resistir a mais uma bebida, não conseguir lembrar-se hoje do que decidiu ontem. Não há justiça social capaz de curar ou dispersar aquele exército debilitado que assombra os lugares públicos de todas as cidades. Então que se há-de fazer? Henry aconchega mais o roupão ao corpo. É preciso saber reconhecer o azar quando se está perante ele, é preciso cuidar daquelas pessoas. É possível salvar alguns das suas dependências - a outros só é possível proporcionar-lhes algum bem-estar, minimizar o seu sofrimento.
Seja como for. Não é nenhum teórico social e é claro que está a pensar em Baxter, esse nó inextricável de sofrimento. Pode ser o facto de pensar nele que o deixa tremer ou podem ser os efeitos físicos do cansaço - tem de pôr a mão no parapeito para se sentir mais estável. Sente-se como se rodopiasse numa roda gigante, como o Eye na margem sul do Tamisa, prestes a chegar ao ponto mais alto - está num ponto-charneira de percepção, antes da descida, e consegue ver calmamente à sua frente. Ou então talvez esteja a imaginar a Terra a voltar para leste, a levá-lo para o nascer do Sol à extraordinária velocidade de mil e seiscentos quilómetros por hora. Se se basear no sono e não no relógio para dividir os dias, é ainda o seu sábado que está a cair à sua frente, tão profundo como toda uma vida. E dali, do ponto mais alto do seu dia, consegue ver muito longe, antes de a descida começar. O domingo não parece trazer-lhe a mesma promessa e vigor do dia anterior. A praça lá em baixo, deserta e imóvel, não lhe dá qualquer pista para o futuro. Mas do ponto onde se encontra consegue ver coisas que sabe que têm de acontecer. Em breve chegará a hora da sua mãe, a notícia virá do lar, mandá-lo-ão chamar, e ele e a sua família sentar-se-ão junto à cama dela, no seu quarto minúsculo com os seus ornamentos, a beber o chá forte e a assistir aos seus últimos momentos, ao desaparecimento da velha nadadora. Neste momento, o facto de pensar nisso não o faz sentir nada, mas sabe que a dor irá surpreendê-lo, porque isso já aconteceu uma vez.
No seu declínio houve um momento em que finalmente teve de a tirar de sua casa, a velha casa de família onde crescera, e de a levar para o lar. A doença estava a apagar as rotinas domésticas que antes eram tão sagradas para ela. Deixava o forno ligado toda a noite, escondia a chave da porta da rua de si própria em frestas nas tábuas do soalho, confundia champô com lixívia. E, para além de tudo isto, havia momentos de confusão existencial em que dava consigo própria na rua, ou numa loja, ou em casa de alguém, sem saber de onde tinha vindo, quem eram aquelas pessoas, onde morava e o que teria de fazer a seguir. Passado um ano já tinha esquecido não só a sua casa, mas também a sua vida. Contudo, vender essa casa seria uma espécie de traição, e Henry não fez nada nesse sentido. De vez em quando ia lá com Rosalind, à casa da sua infância, e no Verão cortava a relva. Ficou tudo no lugar onde estava, à espera: as luvas de plástico amarelas penduradas num gancho na cozinha, a gaveta dos panos de cozinha, o burro de loiça com um cestinho com palitos. Começou a avolumar-se um cheiro a abandono, os seus bens começaram a ser invadidos por um ar de negligência que não tinha nada a ver com pó. Até vista da rua a casa tinha um ar de derrota, e quando uns miúdos atiraram uma pedra pela janela da sala numa tarde de Novembro percebeu que tinha de fazer qualquer coisa.
Um fim-de-semana foi com Rosalind e os miúdos esvaziar a casa. Todos escolheram uma recordação. Parecia uma falta de respeito não o fazer. Daisy trouxe um prato de latão do Egipto, Theo um relógio de corrente, Rosalind uma fruteira de porcelana. Henry trouxe uma caixa de sapatos cheia de fotografias.
Alguns sobrinhos e sobrinhas ficaram com outras coisas. A cama de Lily, um aparador, dois guarda-fatos, as carpetes e uma cómoda foram vendidos. As roupas, as loiças e os ornamentos que ninguém quis foram empacotados e dados a obras de caridade. Henry nunca percebera em que medida essas obras viviam dos mortos. O resto foi metido em contentores do lixo. Fizeram tudo em silêncio, como ladrões. Não lhes parecia adequado terem a telefonia ligada. Bastou um dia para desintegrar a existência de Lily.
Estavam a desmontar o cenário de uma peça, de um humilde drama doméstico, sem autorização do único actor. Começaram pela divisão que ela dizia ser a casa da costura, o antigo quarto de Henry. Lily nunca mais voltaria, já não sabia o que era fazer malha, mas embrulhar as agulhas dela, os milhares de linhas, uma mantinha de bebé por acabar, para os dar a estranhos era bani-la do seio dos vivos. Fizeram tudo muito depressa, num frenesim. Henry passou o dia a repetir a si próprio que ela não estava morta. Mas a vida dela, todas as vidas, parecia-lhe ténue quando via a rapidez com que se podia empacotar, distribuir ou deitar fora todos os seus objectos, todos os seus pormenores. Os objectos tornavam-se lixo assim que eram separados do seu proprietário ou do seu passado. Sem ela, o abafador do bule era repelente, com os seus desenhos esbatidos e as pálidas nódoas castanhas sobre o tecido barato e um forro pateticamente fino. À medida que as prateleiras e as gavetas se iam esvaziando, Henry ia verificando que de facto ninguém tem nada. É tudo alugado, emprestado. Os nossos bens sobrevivem-nos, somos nós que acabamos por abandoná-los. Passaram o dia inteiro a trabalhar e encheram vinte e três sacos de lixo.
Sente-se magro e frágil com o roupão, de frente para a manhã que ainda está escura, que ainda faz parte do dia de ontem. Sim, isso acontecerá, e ele fará o que for preciso. Uma vez ela levou-o ao cemitério que havia perto da casa deles e mostrou-lhe as fileiras de pequenos armários de metal metidos na parede onde queria que ficassem as suas cinzas. Tudo isso terá forçosamente de acontecer, e eles assistirão, de cabeça curvada, a ouvir a Oração dos Mortos. O homem que nasce do ventre da mulher tem pouco tempo para viver... Ouviu isso muitas vezes ao longo dos anos, mas só se lembra de algumas partes. A sua presença neste mundo é passageira, como se fosse uma flor. Depois será a vez de John Grammaticus, uma dessas doenças que transfiguram as pessoas que bebem muito ou uma estocada final no coração ou no cérebro. Será um rude golpe para todos, para cada um à sua maneira, mas menor para Henry que para os outros. Esta noite o velho poeta foi corajoso, fingindo que não lhe doía o nariz e dando a Daisy a sugestão certa. E, quando chegar esse momento, haverá o problema do castelo, se Teresa casar com John e reclamar a sua parte na herança, e Rosalind, com a sua extraordinária competência em leis, defender o direito a ficar com a casa que pertencia à mãe, a casa onde Daisy, Theo e a própria Rosalind passaram todos os Verões da sua infância. E qual será o papel de Henry? Ser de uma lealdade discreta, mas implacável.
Que mais acontecerá para além das mortes? Theo sairá de casa pela primeira vez - não haverá postais, nem cartas, nem e-mails, apenas telefonemas. Haverá viagens a Nova Iorque para ouvir Theo e a sua banda apresentarem os seus blues aos americanos - podem não gostar - e aproveitar para ver velhos amigos do tempo de Bellevue Hospital. Daisy publicará os seus poemas, terá um bebé e apresentar-lhes-á Giulio. Henry continua a vê-lo como o amante moreno, de tronco nu, do poema que ouviu mal. Um bebé com todo o seu enxoval para dar vida à casa, e alguém, mas não ele, nem Rosalind, a levantar-se durante a noite. Nem Giulio, a menos que seja um italiano diferente dos outros. Tudo isto é muito intenso. E depois ele, Henry, fará cinquenta anos, desistirá do squash e das maratonas, a casa ficará vazia quando Daisy e Giulio se mudarem e Theo arranjar também uma casa para si, e então Henry e Rosalind desabarão um sobre o outro, ficarão ainda mais unidos, depois de concluída a sua tarefa de criarem os filhos e de lançarem no mundo jovens adultos. Aquela inquietação, a fome que ultimamente tem tido por um outro tipo de vida, vai desaparecer. Chegará depois a altura em que fará menos operações e mais trabalho administrativo - será outro tipo de vida - e Rosalind deixará o jornal para escrever o seu livro, e chegará então o tempo em que já não terão força para a praça, para os drogados, para o barulho e a poluição do trânsito. Talvez uma bomba pela causa da Jihad os empurre para junto de todos os idosos dos arredores, ou para uma zona ainda mais no interior, ou até para o castelo - e os seus sábados transformar-se-ão em domingos.
Atrás dele, como se tivesse sido agitada pelos pensamentos dele, Rosalind estremece, geme e mexe-se mais uma vez e depois fica outra vez em silêncio. Henry volta-se de novo para a janela. Londres, a pequena parte de Londres que é sua, estende-se à sua frente, sem poder ser defendida, à espera da sua bomba, como centenas de outras cidades. A hora de ponta será uma altura boa. Será parecido com o choque de comboios em Paddington - carris contorcidos, carruagens enfaixadas e voltadas, macas a passarem por janelas partidas, o plano de emergência do hospital a ser accionado. Berlim, Paris, Lisboa. As autoridades estão de acordo quanto à inevitabilidade de um ataque. Ele vive num outro tempo - o facto de os jornais o dizerem não significa que seja verdade. Mas do ponto mais alto do seu dia trata-se de um futuro que é difícil prever, de um horizonte cheio de possibilidades. Há cem anos, um médico de meia-idade que estivesse àquela janela com o seu roupão de seda, menos de duas horas antes do amanhecer de um dia de Inverno, poderia ter meditado sobre o futuro do novo século. Fevereiro de 1903. Poder-se-ia invejar aquele cavalheiro eduardiano por tudo o que ele ainda não sabia.
Se tivesse filhos, poderia perdê-los daí a menos de uma dúzia de anos no Somme. E quantos corpos terão contado Hitler, Estaline, Mao? Cinquenta milhões, cem milhões? Se descrevêssemos ao bom médico - um produto afável de várias décadas de paz e prosperidade - o inferno que tinha à sua frente, se o avisássemos, ele não acreditaria. Cuidado com os utopistas, homens zelosos certos do caminho para a ordem social ideal. E agora ei-los de novo, os totalitários, mas de um outro tipo, ainda poucos e fracos, mas a aumentarem e a ficarem cada vez mais zangados e mais sequiosos por outra carnificina. Cem anos sem a questão se resolver. Mas tudo isto poderá ser uma indulgência, uma fantasia inútil, exagerada, um pensamento nocturno sobre uma perturbação passageira que o tempo e o bom senso hão-de resolver. O próximo promontório, o que está mais próximo de si, é mais fácil de interpretar - tão certo como a sua mãe morrer, irá jantar com o professor Taleb num restaurante iraquiano perto de Hoxton. A guerra vai começar no próximo mês - a data exacta até já deve ter sido marcada, como se se tratasse de mais um acontecimento desportivo. Mais tarde estará demasiado calor para matar ou libertar pessoas. Bagdade está à espera das bombas. Onde está agora o desejo de Henry de afastar um tirano? Ao fim do seu dia, daquela noite em particular, sente-se tímido, vulnerável, está sempre a aconchegar mais o roupão à volta do corpo. Um outro avião passa da esquerda para a direita no seu campo de visão, descendo da forma habitual para Heathrow. Agora é mais difícil lembrar-se ou reviver o calor da sua discussão com Daisy. As certezas dissolveram-se em questões a debater; que o mundo que o professor descreveu é intolerável, que, por duvidosos que sejam os motivos americanos, talvez seja melhor e haja menos mortes se esse mundo for desmantelado. Talvez, ouve Daisy dizer-lhe, não chega. Deixaste que a história de um só homem te desse volta à cabeça. Uma mulher com um filho no ventre tem uma autoridade própria. Será capaz de reafirmar a sua esperança numa acção firme de manhã? Neste momento sente apenas medo. É fraco e ignorante, está com medo da forma como as consequências fogem do nosso controlo e provocam novos acontecimentos, novas consequências, até que somos levados para um lugar que nunca imaginámos e que jamais escolheríamos - uma faca apontada à garganta. Um andar abaixo do sítio onde Andrea Chapman sonha ser arrebatada pelo amor improvável de um jovem médico está Baxter, na sua escuridão privada, vigiado por dois polícias. Mas há uma pequena convicção que ajuda Henry a sentir-se seguro. Começou a ganhar forma ao jantar, antes de Jay lhe telefonar, e tomou a decisão final quando estava sentado nos cuidados intensivos, a apalpar o pulso de Baxter. Tem de convencer Rosalind e depois o resto da família, e depois a polícia, a não apresentar queixa. O assunto terá de ser esquecido. Eles que persigam o outro homem. Baxter tem uma fatia cada vez menor de vida que valha a pena viver, antes de se iniciar a sua descida para um pesadelo de alucinações. Henry conseguirá que um ou dois colegas seus, especialistas na matéria, convençam o Ministério Público de que, quando chegar a altura do julgamento, Baxter não estará em condições de se apresentar em tribunal. Pode ser verdade ou não. Depois o sistema, o hospital certo, deverá mantê-lo em segurança, para que não possa causar mais mal. Henry poderá tratar de tudo isso, fazer tudo o que está ao seu alcance para que o doente fique bem instalado. Será isso perdão? Talvez não, não sabe, e de qualquer forma não será ele que estará a concedê-lo. Ou será ele que quer ser perdoado? Afinal foi responsável; há vinte horas atrás atravessou uma rua oficialmente fechada ao trânsito e desencadeou uma série de acontecimentos. Também pode ser fraqueza. Depois de uma certa idade, quando os anos que nos faltam começam a ter um aspecto finito e começamos a sentir o primeiro arrepio por causa de nós mesmos, temos um interesse maior, mais fraterno por um homem que está a morrer. Mas Henry prefere acreditar que é realismo: todos eles ficarão diminuídos se chicotearem um homem que vai a caminho do Inferno. Ao salvar-lhe a vida no bloco operatório, Henry entregou Baxter à sua tortura. Já é vingança suficiente. E nessa área Henry pode exercer a sua autoridade e determinar os acontecimentos. Sabe como funciona o sistema; a diferença entre prestar bons ou maus cuidados de saúde é quase infinita.
Daisy recitou um poema que enfeitiçou um homem. Talvez qualquer poema pudesse ter tido esse efeito e desencadeado uma súbita variação de humor. Mesmo assim, Baxter acreditou na magia, ficou extasiado por ela e lembrou-se de que queria desesperadamente viver. Ninguém pode perdoar-lhe o facto de ter utilizado uma faca. Mas Baxter ouviu o que Henry nunca ouviu, e provavelmente nunca ouvirá, apesar dos esforços de Daisy para o educar. Um poeta qualquer do século xix - Henry ainda tem de descobrir se esse tal Arnold era famoso ou desconhecido - despertou em Baxter um desejo que quase não conseguiu definir. Esse desejo é o seu direito à vida, a uma existência mental, e como ele não durará muito mais tempo, como a porta da sua consciência está a começar a fechar-se, não deve lutar por esse desejo dentro de uma cela, à espera daquele julgamento absurdo. É este o seu destino sombrio e inelutável, ter um erro de repetição nos códigos do seu ser, no seu genótipo, a variante moderna de uma alma, e terá de viver com ele - essa é outra certeza que Henry vê à sua frente.
Sem fazer barulho, fecha a janela. A manhã ainda está escura, e é aquele o momento mais frio da noite. O dia só nascerá depois das sete horas. Três enfermeiras atravessam a praça, a conversar animadamente, dirigindo-se ao seu hospital para começarem o turno da manhã. Henry fecha as portadas, depois vai para a cama e deixa o roupão cair aos seus pés.
Rosalind está voltada de costas para ele com os joelhos dobrados. Fecha os olhos. Desta vez não terá dificuldade em cair no esquecimento. Agora já não há nada que o impeça. O sono já não é um conceito; é uma coisa material, um antigo meio de transporte, um tapete rolante que se move lentamente e que irá transportá-lo até domingo. Encaixa-se nela, no seu pijama de seda, no seu cheiro, no seu calor, na sua forma que tanto ama, e aproxima-se mais dela. Sem ver, beija-lhe a nuca. «Aquilo existe» sempre é um dos seus últimos pensamentos. E depois: «só aquilo existe.» E por fim, já sem forças, a cair: «o dia chegou ao fim.»
Ian McEwan
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















