



Biblio VT




Fredrik Welin passou os últimos doze anos da sua vida numa ilha do Báltico rodeada de gelo, tendo como única companhia o seu cão e a sua gata, e como única visita o carteiro. Um dia, vê uma figura aproximar-se lentamente e percebe que nada voltará a ser o mesmo. A pessoa que vem perturbar o seu exílio autoimposto é Harriet, a mulher que ele abandonou sem qualquer explicação há quase quarenta anos. Harriet diz vir obrigá-lo a honrar uma promessa que ele lhe fizera, mas Fredrik está prestes a descobrir que o seu reaparecimento esconde outra surpresa. Juntos iniciarão uma emocionante viagem rumo ao Norte, plena de encontros inesperados e de segredos do passado... Henning Mankell afasta-se do género policial a que já nos habituou para refletir neste romance sobre temas como o amor, a perda, a redenção e a autodescoberta.
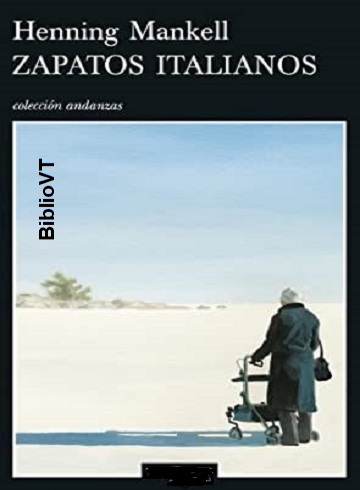
CAPÍTULO 1
Sinto-me sempre mais só quando está frio.
O frio do lado de fora da minha janela recorda-me o frio que emana do meu próprio corpo. Estou a ser atacado de duas direções. Mas resisto constantemente. É por
isso que abro um buraco no gelo todas as manhãs. Se alguém se postasse com um telescópio na baía gelada e visse o que eu estava a fazer, pensaria que eu era doido
e preparava a minha própria morte. Um homem nu, nesta friagem terrível, de machado em punho, a abrir um buraco no gelo?
Suponho que, na realidade, espero que um destes dias esteja alguém lá fora, uma sombra negra recortada contra toda aquela brancura; alguém que me veja e pense se será possível deter-me antes que seja demasiado tarde. Mas não é necessário deter-me, porque não tenho qualquer intenção de me suicidar.
Há uns anos, depois da grande catástrofe, a fúria e o desespero que me atormentavam tornavam-se por vezes tão avassaladores que pensei mesmo em acabar comigo. Mas nunca cheguei a tentar. A cobardia tem sido uma fiel companheira ao longo da minha vida. Tal como agora, então também pensava que a vida se resume a nunca abrir mão. A vida é um frágil ramo suspenso sobre um precipício. E agarro-me a ela enquanto tiver força para isso. Um dia acabarei por cair, como toda a gente, e não sei o que me esperará. Haverá alguém lá em baixo, para me apanhar? Ou não haverá nada além de um negrume frio e cruel a precipitar-se na minha direção?
13
O gelo veio para ficar.
O inverno está a ser duro este ano, no início do novo milénio. Esta manhã, quando acordei na escuridão de dezembro, julguei ouvir o gelo a cantar. Não sei onde fui buscar a ideia de que o gelo é capaz de cantar. Talvez o meu avô, que nasceu aqui, nesta ilhota, me tenha falado nisso quando eu era pequeno.
Mas esta manhã, quando ainda estava escuro, fui acordado por um som. Não era nem o cão, nem a gata. Tenho dois animais de estimação cujo sono é mais profundo do que o meu. A minha gata está velha e perra, e o meu cão está completamente surdo do ouvido direito e não ouve grande coisa do esquerdo. Se passar por ele em bicos de pés, ele não dá por nada.
Mas aquele ruído?
Tentei orientar-me na escuridão. Ainda demorei um bocado a perceber que devia ser o barulho do gelo a deslocar-se, embora tenha mais de trinta centímetros de espessura aqui na baía. Na semana passada, um dia em que estava mais perturbado do que de costume, caminhei até ao limite do gelo, onde este se encontra com o mar aberto, e que agora se estende mil e quinhentos metros além do recife mais distante. Isso significa que o gelo, aqui na baía, não se devia deslocar absolutamente nada. Mas, de facto, subia e descia, rangia e cantava.
Fiquei a ouvir aquele som. Ocorreu-me que a minha vida passara muito depressa. Agora, aqui estou. Um homem de sessenta e seis anos, financeiramente independente,
vergado ao peso de uma recordação que me atormenta constantemente. Cresci em circunstâncias desesperadas, impossível de imaginar na Suécia de hoje. O meu pai era um empregado de mesa, subjugado e gordo, e a minha mãe passava todo o tempo a tentar esticar o dinheiro. Consegui fugir àquele poço de pobreza. Em criança, passava os verões aqui no arquipélago, a brincar, e não tinha noção da passagem do tempo. Nesses dias, o meu avô e a minha avó ainda eram ativos, não tinham envelhecido a ponto de serem incapazes de se mexer e ficarem meramente à espera da morte. Ele cheirava a peixe e ela não tinha dentes. Embora sempre tivesse sido bondosa para mim, havia algo de assustador no seu sorriso, na maneira como a boca se abria para revelar um buraco negro.
14
Não parece ter passado muito tempo desde que eu vivi esse primeiro ato. Agora o epílogo já começou.
O gelo cantava na escuridão. Perguntei-me se estaria prestes a sofrer um ataque cardíaco. Levantei-me e medi a minha tensão arterial. Não havia nada de errado comigo, a tensão era de 155/90, a pulsação estava normal, com 64 batidas por minuto. Apalpei-me, para ver se tinha alguma dor nalgum lado. A perna esquerda doía-me ligeiramente, mas dói sempre e não é coisa com que me preocupe. Em contrapartida, o som do gelo estava a afetar o meu estado de espírito. Qual coro fantasmagórico composto de vozes estranhas. Sentei-me na cozinha e esperei pelo amanhecer. As madeiras da casa estalavam e rangiam. Ou era o frio que estava a fazer contrair a madeira, ou talvez apenas um rato a correr por uma das suas passagens secretas.
O termómetro pregado do lado de fora da janela da cozinha indicava -19°C.
Tomo a decisão de fazer hoje exatamente o mesmo que faço em todos os outros dias de inverno. Visto o meu roupão, enfio os pés num par de galochas de cano curto, pego no meu machado e encaminho-me para o pontão. Não demoro muito a abrir o meu buraco no gelo: a área que costumo partir ainda não teve tempo para endurecer de novo. Em seguida dispo-me e salto para a água lamacenta. Dói, mas quando me arrasto para fora tenho a impressão de que o frio foi transformado num calor intenso.
Todos os dias salto para o meu buraco negro, para ter a sensação de ainda estar vivo. Depois é como se a minha solidão se desvanecesse lentamente. Talvez um dia morra do choque provocado pelo mergulho na água gelada. Como os meus pés chegam ao fundo, posso ficar de pé na água: não desaparecerei debaixo do gelo. Ficarei ali de pé, enquanto o gelo solidifica de novo, rapidamente. Será aí que Jansson, o homem que entrega o correio nas ilhas do arquipélago, me encontrará.
Por muitos anos que viva, nunca compreenderá o que aconteceu.
Mas não me preocupo com isso. Organizei a minha casa, na pequena ilha que herdei, como uma fortaleza inexpugnável. Quando subo a colina que se ergue nas traseiras da construção, tenho uma
15
vista desimpedida até ao mar. Não há lá nada, exceto ilhotas minúsculas e rochedos, cujas silhuetas baixas mal se vêem acima da superfície da água ou do gelo. Se olhar para o outro lado, vejo as ilhas mais substanciais e menos inóspitas do arquipélago interior. Mas não há nenhuma outra habitação à vista.
Escusado será dizer que não era assim que tinha planeado as coisas.
Esta casa destinava-se a ser a minha residência de verão. Não o meu último reduto. Todas as manhãs, depois de abrir o meu buraco no gelo ou de imergir no calor das águas estivais, admiro-me com o que aconteceu à minha vida.
Cometi um erro. E recusei-me a aceitar as consequências. Se nessa altura soubesse o que sei hoje, que teria feito? Não tenho a certeza. Mas sei que não precisaria de passar a minha vida aqui, como um prisioneiro, numa ilha deserta nos limites do mar aberto.
Devia ter seguido o meu plano.
Resolvi tornar-me médico no dia do meu décimo quinto aniversário. Para minha grande surpresa, o meu pai levara-me a jantar fora. Trabalhava como empregado de mesa, mas, num esforço obstinado para preservar a sua dignidade, só trabalhava de dia, nunca à noite. Se recebesse instruções para trabalhar à noite, demitia-se. Ainda me lembro das lágrimas da minha mãe, quando ele chegava a casa e anunciava que se tinha demitido outra vez. Mas agora, inesperadamente, ia levar-me a um restaurante. Tinha ouvido os meus pais a discutir se deviam dar-me aquele "presente" ou não, e a discussão terminara com a minha mãe a fechar-se à chave no quarto. Era uma atitude normal nela, quando algo ia contra os seus desejos. Esses eram períodos particularmente difíceis, quando ela passava a maior parte do tempo fechada no quarto. Este cheirava sempre a alfazema e lágrimas. Eu dormia no sofá da cozinha e o meu pai suspirava profundamente enquanto punha um colchão no chão para lhe servir de cama.
Ao longo da minha vida, cruzei-me com muita gente que chorava. Nos meus anos como médico encontrei frequentemente pessoas que estavam a morrer e pessoas que tinham sido forçadas
16
a aceitar o facto de um ente querido estar a morrer. Mas as suas lágrimas nunca emitiam um perfume que recordasse as da minha mãe. No caminho para o restaurante,
o meu pai explicou-me que ela era hipersensível. Não consigo lembrar-me da minha reação. Que podia eu dizer? As minhas recordações mais antigas consistem na minha mãe a chorar hora após hora, lamentando a falta de dinheiro, a pobreza que minava a nossa vida. O meu pai parecia não a ouvir chorar. Se ela estivesse de bom humor quando ele chegava a casa, tudo ia bem. Se ela estivesse na cama, rodeada pelo aroma a alfazema, tudo ia bem do mesmo modo. O meu pai dedicava os serões a organizar a sua grande coleção de soldadinhos de chumbo e a reconstruir batalhas célebres. Antes de eu adormecer, estendia-se frequentemente ao meu lado, na cama, afagava-me a cabeça e expressava o seu desgosto por a minha mãe ser tão sensível que, infelizmente, não era possível presentear-me com irmãos ou irmãs. Cresci numa terra de ninguém, entre lágrimas e soldadinhos de chumbo. E com um pai que afirmava que, tal como um cantor de ópera, um empregado de mesa precisava de sapatos decentes se queria fazer o seu trabalho como deve ser.
Tudo correu de acordo com os seus desejos. Fomos ao restaurante. Veio um criado tomar nota do nosso pedido. O meu pai fez toda a espécie de perguntas complicadas e pormenorizadas acerca da vitela que acabou por encomendar. Eu tinha optado impulsivamente por arenque. Os verões passados no arquipélago haviam-me ensinado a apreciar peixe. O empregado deixou-nos em paz.
Foi a primeira vez que bebi um copo de vinho. Fiquei embriagado quase ao primeiro gole. No fim da refeição, o meu pai sorriu e perguntou-me que carreira tencionava seguir.
Não sabia. Ele investira muito dinheiro para me permitir continuar na escola. A atmosfera deprimente e os professores pobremente vestidos que patrulhavam os corredores malcheirosos não me tinham inspirado a pensar no futuro. Tratava-se essencialmente de sobreviver de dia para dia, de preferência evitando ser exposto como um dos que não tinham feito os trabalhos de casa e sem apanhar notas muito más. Todos os dias eram carregados de pressão e era
17
impossível imaginar um horizonte além do fim do período. Até hoje não consigo lembrar-me de uma única ocasião em que tenha falado acerca do futuro com os meus colegas de turma.
- Tens quinze anos - disse o meu pai. - É tempo de pensares no que vais fazer na vida. Estás interessado em trabalhar na restauração? Quando tiveres terminado os
teus exames, podes ganhar o suficiente a lavar pratos para pagares a passagem para a América. É boa ideia ver o mundo. Só tens de ter o cuidado de arranjar um bom par de sapatos.
- Não quero ser empregado de mesa.
Fui muito firme nesse ponto. Não sei ao certo se ele ficou desapontado ou aliviado. Bebericou um gole de vinho, esfregou o nariz e, por fim, perguntou-me se tinha planos definidos para a minha vida.
- Não.
- Mas deves ter uma ou duas ideias. Qual é a tua disciplina preferida?
- Música.
- Sabes cantar? Isso seria uma novidade para mim.
- Não, não sei cantar.
- Aprendeste a tocar algum instrumento sem meu conhecimento?
- Não.
- Então por que gostas mais de música?
- Porque o Ramberg, o professor de música, não me presta atenção.
- Que queres dizer com isso?
- Só se interessa pelos alunos que sabem cantar. Nem sequer dá pela presença dos outros.
- Então a tua disciplina preferida é aquela que não frequentas verdadeiramente, é isso?
- Química também é boa.
O meu pai ficou obviamente surpreendido ao ouvir aquilo. Por um instante pareceu rebuscar na memória, recuando aos seus inadequados tempos de escola, perguntando-se
se tivera alguma disciplina chamada química. Pareceu ficar enfeitiçado. Transformou-se diante dos meus olhos. Até então, as únicas coisas que tinham
18
mudado nele, ao longo dos anos, eram a roupa, os sapatos e a cor do cabelo (que se fora tornando cada vez mais grisalho). Mas agora passava-se algo de inesperado. Parecia atingido por uma espécie de impotência que eu nunca lhe vira. Embora se sentasse frequentemente na beira da minha cama, ou fosse nadar comigo na baía, mantinha-se sempre distante. Agora, ao mostrar a sua impotência, parecia muito mais próximo de mim. Eu era mais forte do que o homem sentado à minha frente, do outro lado da toalha de mesa branca, num restaurante onde um conjunto tocava música que ninguém ouvia, onde o fumo dos cigarros se misturava com perfumes pungentes e onde o vinho ia desaparecendo do seu copo.
Foi então que decidi o que ia dizer. Foi nesse preciso momento que descobri, ou talvez tenha forjado, o meu futuro. O meu pai fixou-me com os seus olhos azuis-acinzentados.
Parecia ter recuperado do sentimento de impotência que se abatera sobre ele. Mas eu vira-o e nunca o esqueceria.
- Dizes que achas química boa. Porquê?
- Porque vou ser médico. De maneira que tenho de saber alguma coisa acerca de substâncias químicas. Quero fazer operações.
Ele fitou-me com uma evidente expressão de repugnância.
- Estás a dizer que queres retalhar pessoas?
- Sim.
- Mas não podes ser médico a menos que fiques mais tempo na escola.
- É isso que tenciono fazer.
- Para poderes remexer nas entranhas das pessoas?
- Quero ser cirurgião.
Nunca tinha pensado na possibilidade de ser médico. Não desmaiava à vista de sangue, nem quando tomava injeções; mas nunca tinha pensado numa vida passada em enfermarias de hospitais e salas de operações. Ao regressarmos a casa, a pé, nessa noite de abril, o meu pai um pouco cambaleante e eu, um miúdo de quinze anos, sob o efeito do meu primeiro copo de vinho, compreendi que não tinha respondido apenas às perguntas do meu pai. Tinha dado a mim próprio algo para que viver.
Ia tornar-me médico. Ia passar a vida a abrir corpos humanos.
19
CAPÍTULO 2
Hoje não havia correio.
Ontem também não houvera. Mas Jansson, o carteiro, vem à minha ilha. Não me traz publicidade. Proibi-o de o fazer. Há doze anos disse-lhe que não se incomodasse a fazer o trajeto apenas para me trazer publicidade. Estava farto de ofertas especiais de descontos em computadores e pernis de porco. Disse-lhe que não precisava disso: de pessoas que tentavam controlar a minha vida, perseguindo-me com ofertas especiais de descontos. Tentei explicar-lhe que a vida não tem a ver com reduções de preços. Tem a ver com algo muito mais importante. Não sei ao certo o quê, contudo é preciso acreditar que é importante e que o sentido oculto é algo mais substancial do que cupões de desconto e raspadinhas.
Discutimos. Não foi a última vez. Por vezes penso que é a nossa raiva que nos une. Mas ele não voltou a trazer-me publicidade depois disso. Da última vez que me trouxe uma carta, tratava-se de uma comunicação da câmara local. Isso foi há mais de sete anos, num dia de outono com um vento forte e frio a soprar de nordeste, e a maré baixa. A carta informava-me que me fora atribuído um talhão no cemitério. Jansson afirmou que todos os residentes locais tinham recebido uma carta semelhante. Era um novo serviço: todos os contribuintes residentes deviam conhecer a localização da sua futura sepultura, para o caso de pretenderem ir ao cemitério e saber quem teriam como vizinhos.
Foi a única carta verdadeira que recebi nos últimos doze anos, tirando os tristes documentos da reforma, os impressos dos impostos
20
e os extratos de conta. Jansson aparece sempre por volta das duas da tarde. Suspeito que tem de vir até cá para poder cobrar aos Correios a totalidade das despesas
de deslocação do seu barco ou do seu hidrocóptero. Tentei perguntar-lhe isso, mas ele nunca responde. É até possível que eu seja a pessoa que justifica ele permanecer como carteiro. Que as autoridades cancelassem a entrega de correio se não fosse o facto de ele aproar ao meu pontão três vezes por semana nos meses de inverno e cinco vezes por semana no verão.
Há quinze anos havia cerca de cinquenta residentes permanentes no arquipélago. Havia um barco que transportava quatro jovens de e para a escola da aldeia. Este ano restamos apenas sete e só um tem menos de sessenta anos. E Jansson. Sendo o mais novo, depende dos restantes moradores, de que continuemos vivos e a teimar em viver aqui, nestas ilhas remotas. Caso contrário, deixa de ter emprego.
Mas isso é irrelevante para mim. Não gosto de Jansson. É um dos doentes mais difíceis que jamais tive. Pertence ao grupo dos hipocondríacos extremamente recalcitrantes.
Numa ocasião, há uns anos, quando lhe examinei a garganta e medi a tensão, ele declarou subitamente que achava que tinha um tumor cerebral, o qual lhe afetava a
visão. Respondi que não tinha tempo para ouvir os delírios da sua imaginação. Mas ele insistiu. Passava-se qualquer coisa no seu cérebro. Perguntei-lhe o que o levava a pensar isso. Tinha dores de cabeça? Tonturas? Quaisquer outros sintomas? Ele não desistiu enquanto não o arrastei para a casa dos barcos, onde estava mais escuro, apontei a minha lanterna especial às suas pupilas e lhe disse que tudo parecia normal.
Estou convencido de que Jansson é são como um pêro. O seu pai tem noventa e sete anos e vive num lar, mas está perfeitamente lúcido. Jansson e o pai zangaram-se em 1970; Jansson deixou de ajudar o pai a pescar enguias e foi trabalhar para uma serração em Smâland. Nunca compreendi por que motivo escolheu uma serração. Naturalmente, compreendo que não estivesse para aturar o seu tirânico pai durante mais tempo. Mas uma serração? Não faço a mais pequena ideia porquê. No entanto, desde essa zanga
21
em 1970 que os dois não voltaram a falar-se. Jansson só regressou de Smâland quando o pai estava tão velho que tinha sido levado para um lar.
Jansson tem uma irmã mais velha, chamada Linnea, que vive na costa. Era casada e tinha um café que abria no verão, mas depois o marido morreu. Caiu redondo na colina que vai dar à cooperativa; depois disso, ela fechou o café e descobriu Jesus. Serve de mensageira entre pai e filho.
A mãe de Jansson morreu há muitos anos. Falei com ela uma vez. Já estava bem embrenhada nas sombras da senilidade e con-venceu-se de que eu era o seu pai, que morrera na década de 1920. Foi uma experiência horrível.
Agora a minha reação não seria tão profunda, mas nesse tempo era um homem diferente.
Não sei mais nada acerca de Jansson, tirando o facto de que o seu nome próprio é Ture e de que é carteiro. Não o conheço e ele não me conhece. Mas quando a sua embarcação contorna o promontório, estou geralmente no pontão à espera dele. Pergunto-me por que o faço, mas sei que nunca acharei uma resposta.
É como esperar por Deus, ou por Godot, mas é Jansson quem aparece.
Sento-me à mesa da cozinha e abro o diário que mantenho há doze anos. Não tenho nada para dizer e não há ninguém que possa vir a ter qualquer interesse naquilo que
escrevo. Mas nem por isso deixo de escrever. Todos os dias, o ano inteiro, apenas algumas linhas. Acerca do tempo, do número de aves que estão nas árvores diante da minha janela, da minha saúde. Nada mais. Se quiser, posso procurar uma data qualquer de há dez anos e concluir que havia um chapim-azul ou um ostraceiro no pontão, quando lá fui esperar por Jansson.
Escrevo o diário de uma vida que perdeu o rumo.
A manhã passara.
Eram horas de puxar o meu barrete de peles sobre as orelhas, aventurar-me no frio cruel, postar-me no pontão e esperar a chegada de Jansson. Deve estar completamente enregelado no seu
22
hidrocóptero, com este tempo tão frio. Às vezes tenho a impressão de sentir um bafo a qualquer bebida forte, quando ele sobe para o pontão. Não o censuro.
Quando me levantei da mesa da cozinha, os animais animaram-se. A gata foi a primeira a chegar à porta, com o cão muito atrás. Deixei-os sair, vesti um velho casaco de peles, roído das traças, que pertencera ao meu avô, enrolei um cachecol ao pescoço e peguei no barrete de pele com orelheiras, que datava do serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial. Depois dirigi-me para o pontão. Estava realmente um frio extremo. Ainda não se ouvia qualquer som. Nem aves, nem sequer o hidrocóptero de Jansson.
Conseguia imaginá-lo. Dava sempre a impressão de que vinha a conduzir um elétrico antiquado, do tempo em que o guarda-freio tinha de viajar no exterior, à mercê dos elementos. As suas roupas de inverno eram praticamente indescritíveis. Casacos, sobretudos, os restos esfarrapados de um casaco de peles, até um velho roupão, camada sobre camada, em dias tão frios como aquele. Eu perguntava-lhe por que motivo não comprava um daqueles fatos-macacos especiais de inverno, que tinha visto numa loja da costa. Ele respondia que não confiava nessas roupas. Mas a verdadeira razão era ele ser demasiado avarento para isso. Usava um barrete de peles semelhante ao meu. Cobria o rosto com um passa-montanhas que lhe dava o aspeto de um ladrão de bancos, e usava um velho par de óculos de motociclista.
Perguntava-lhe muitas vezes se os Correios não tinham a responsabilidade de o equipar com roupas de inverno quentes. Ele resmoneava algo incompreensível. Queria ter tão pouco a ver com os Correios quanto possível, apesar do facto de trabalhar para eles.
Uma gaivota ficara presa no gelo, ao lado do pontão. Tinha as asas dobradas, as pernas rígidas espetadas a direito no gelo. Os seus olhos pareciam dois cristais cintilantes. Libertei-a e pousei-a numa pedra, na margem. Ao fazê-lo, ouvi o motor do hidrocóptero. Não precisei de consultar o relógio. Jansson vinha a horas. A paragem anterior devia ter sido em Vesselsó. Vive lá uma velhota chamada Asta Karolina Àkerblom. Tem oitenta e oito anos, dores fortes nos braços, mas recusa-se teimosamente a sair da ilha onde nasceu. Jans-
23
son diz que a sua vista é fraca, no entanto ela continua a tricotar camisolas e peúgas para os muitos netos que tem espalhados por todo o país. Pergunto-me qual será o aspeto das camisolas. Será possível tricotar e seguir diversos padrões quando se está meio cego? O hidrocóptero surgiu à vista, contornando o promontório que se alonga na direção de Lindsholmen. E uma visão notável, quando a embarcação, que lembra um inseto, se aproxima e começa a distinguir-se o vulto do homem embuçado ao volante. Jansson desligou o motor, a grande hélice calou-se e o homem fez o aparelho deslizar para o pontão, ao mesmo tempo que tirava os óculos e o passa-montanhas. Tinha o rosto vermelho e transpirado.
- Estou com dores de dentes - anunciou ele, içando-se para o pontão com considerável dificuldade.
- E que quer que eu faça a esse respeito?
- E médico, não é?
- Não sou dentista.
- A dor é aqui, do lado esquerdo.
Jansson abriu muito a boca, como se tivesse acabado de ver qualquer coisa aterradora atrás de mim. Os meus dentes estão razoavelmente bons. Normalmente não preciso de consultar o dentista mais do que uma vez por ano.
- Não posso fazer nada. Tem de ir ao dentista.
- Podia dar uma vista de olhos, pelo menos.
Jansson não ia desistir. Fui à casa dos barcos buscar uma lanterna e uma espátula.
- Abra a boca!
- Está aberta.
- Abra mais.
- Não consigo.
- Não vejo nada. Vire a cara para este lado!
Iluminei a boca de Jansson com a lanterna e afastei-lhe a língua. Os seus dentes estavam amarelos e cobertos de tártaro. Tinha muitas obturações. Mas as suas gengivas pareciam saudáveis e não vi quaisquer cáries.
- Não vejo nada de errado.
- Mas dói.
24
- Tem de consultar um dentista. Tome um analgésico!
- Acabaram-se.
Tirei uma embalagem de analgésicos da minha caixa de medicamentos. Ele guardou-a no bolso. Como de costume, não lhe ocorreu perguntar quanto me devia. Nem pela consulta, nem pelos analgésicos. Conta simplesmente com a minha generosidade. Deve ser por isso que não gosto dele. Não é fácil, quando o nosso amigo mais chegado é uma pessoa de quem não gostamos.
- Tenho uma encomenda para si. Um presente dos Correios.
- Desde quando é que os Correios dão presentes?
- É um presente de Natal. Toda a gente vai receber uma encomenda dos Correios.
- Porquê?
- Não sei.
- Não o quero.
Jansson remexeu num dos seus sacos e estendeu-me um embrulho pequeno e delgado. Uma etiqueta desejava-me "Feliz Natal do Diretor Geral dos Correios".
- É gratuito. Deite-o fora, se não o quiser.
- Não vai convencer-me de que alguém recebe qualquer coisa gratuita dos Correios.
- Não estou a tentar convencê-lo de coisa alguma. Toda a gente recebe a mesma encomenda. E é grátis.
Às vezes, a irascibilidade de Jansson vence-me. Não tive forças para ficar ali, ao frio, a discutir com ele. Abri o embrulho. Continha dois refletores e a mensagem: "Tenha cuidado nas estradas! Os Correios desejam-lhe Boas Festas."
- Para que diabo preciso de refletores? Aqui não há carros e o único peão sou eu.
- Um destes dias talvez se farte de viver aqui. Nessa altura talvez ache que um par de refletores tem utilidade. Pode dar-me um copo de água? Tenho de tomar um comprimido.
Nunca permiti que Jansson pusesse os pés na minha casa e não tencionava fazê-lo agora.
- Dou-lhe uma caneca e você pode derreter um bocado de neve pondo a caneca ao pé do motor.
25
Fui de novo à casa dos barcos e encontrei a tampa de um velho termo, que fazia as vezes de caneca, enchi-a de neve e entreguei-a a Jansson. Ele juntou-lhe um dos seus comprimidos. Esperámos em silêncio, enquanto a neve derretia ao lado do motor quente. Ele esvaziou a caneca de um trago.
- Volto na sexta. Depois é o Natal.
- Eu sei.
- Como vai festejar o Natal?
- Não vou festejar o Natal.
Jansson gesticulou para a minha casa vermelha. Receei que as muitas camadas de roupa que vestia o fizessem cair, qual cavaleiro derrotado metido numa armadura demasiado pesada.
- Devia pendurar umas luzes à volta da sua casa. Dar-lhe-ia vida.
- Não, obrigado. Prefiro que esteja escura.
- Por que não é capaz de tornar aquilo que o rodeia um pouco mais agradável?
- Está exatamente como eu quero.
Virei-lhe as costas e comecei a subir para casa. Atirei os refle-tores para a neve. Quando cheguei ao telheiro da lenha, ouvi o rugido do motor do hidrocóptero a arrancar. Parecia um animal em extremo sofrimento. O cão estava sentado nos degraus, à minha espera. Podia dar-se por muito feliz por ser surdo. A gata rondava a macieira, olhando para os ampélis que bicavam o pedaço de couro de bacon que eu lá pendurara.
Por vezes sinto falta de ter alguém com quem falar. A troca de gracejos com Jansson não pode propriamente ser considerada conversa. Apenas coscuvilhice. Coscuvilhice local. Fala de coisas nas quais não tenho qualquer interesse. Pede-me para diagnosticar as suas doenças imaginárias. O meu pontão e a minha casa dos barcos transformaram-se numa espécie de consultório privado só para ele. Ao longo dos anos fui transferindo para a casa dos barcos, entre velhas redes de pesca e outro equipamento, braçadeiras para medir a tensão arterial e instrumentos para remover a cera dos ouvidos. O meu estetoscópio pende de um gancho de madeira,
26
juntamente com um êider decorativo feito pelo meu avô há muito tempo. Tenho uma gaveta especial onde guardo medicamentos de que Jansson pode necessitar. O banco do pontão, onde o meu avô costumava sentar-se a fumar o seu cachimbo depois de amanhar as solhas-das-pedras que tinha apanhado, é agora utilizado como marquesa quando Jansson precisa de se deitar. Já lhe apalpei o abdómen no meio de tempestades de neve, quando ele suspeitava que tinha cancro no estômago, e examinei-lhe as pernas quando ele se convenceu de que padecia de um problema muscular insidioso. Pensei muitas vezes no facto de que as minhas mãos, usadas outrora em operações complicadas, agora serviam exclusivamente para revistar o corpo invejavelmente saudável do carteiro.
Mas conversa? Não.
Todos os dias examino o meu barco, que tem estado a seco. Já lá vão três anos desde que o tirei da água para o pôr novamente apto a navegar. Mas nunca cheguei a fazê-lo. É um esplêndido barco de madeira antigo, cravado com tábuas sobrepostas no bordo exterior, que está a ser destruído pelo efeito combinado do clima e da negligência. Não devia permitir que aconteça uma coisa dessas. Na próxima primavera tratarei disso.
Mas pergunto-me se o farei de facto.
Regressei a casa e retomei o meu puzzle. O tema é um dos quadros de Rembrandt, A Ronda da Noite. Ganhei-o há muito tempo, numa tômbola organizada pelo hospital de Luleâ, no extremo norte da Suécia, para onde fui como um cirurgião recém-nomeado, que disfarçava a sua insegurança por trás de uma grande dose de autossatisfação. Como o quadro é escuro, o puzzle é muito difícil de resolver; hoje, em todo o dia, só consegui encaixar uma única peça. Preparei a refeição da noite e ouvi rádio enquanto comia. O termómetro indicava -21°C. O céu estava límpido e a previsão meteorológica dizia que arrefeceria ainda mais antes do amanhecer. Dava a impressão de que os recordes de baixas temperaturas estavam prestes a ser batidos. Alguma vez teria estado tanto frio aqui? Durante os anos da guerra, talvez? Resolvi perguntar a Jansson: geralmente, ele sabe esse tipo de coisas.
Havia algo a roer-me.
27
Tentei estender-me na cama a ler. Um livro acerca da história de como a batata fora introduzida na Suécia. Já o tinha lido várias vezes. Presumivelmente porque não levantava quaisquer questões. Podia virar as páginas, uma após outra, sabendo que não seria confrontado com algo desagradável e inesperado. Apaguei a luz à meia-noite. Os meus dois animais já tinham adormecido. As paredes de madeira estalavam e rangiam.
Procurei tomar uma decisão. Devia continuar a guarnecer as defesas da minha fortaleza insular? Ou devia aceitar a derrota e tentar fazer qualquer coisa da vida que me restava?
Não era capaz de tomar uma resolução. Fiquei a olhar para a escuridão, suspeitando de que a minha vida continuaria tal e qual como até aqui. Não haveria qualquer mudança significativa.
Era o solstício de inverno. A noite mais longa e o dia mais curto. Em retrospetiva, tornar-se-ia claro para mim que a data tivera um significado de que eu nunca suspeitara.
Fora um dia vulgar. Estava muito frio e, na neve que envolvia o meu pontão rodeado de gelo, jaziam um par de refletores dos Correios e uma gaivota morta.
28
CAPÍTULO 3
O Natal foi e veio. O Ano Novo foi e veio.
No dia três de janeiro, uma tempestade de neve abateu-se sobre o arquipélago, vinda do Golfo da Finlândia. Subi a colina, nas traseiras da minha casa, e fiquei a ver as nuvens negras acastelarem-se no horizonte. Caíram quase sessenta centímetros de neve em onze horas e fui obrigado a saltar pela janela da cozinha para limpar a neve que bloqueava a porta da frente.
Quando a tempestade passou, anotei no meu diário: "Ampélis desapareceram. Pedaço de couro de bacon abandonado. Seis graus negativos."
Setenta e um carateres, três pontos finais. Para que fazia eu aquilo?
Eram horas de abrir o buraco no gelo e dar um mergulho. O vento golpeou-me o corpo, enquanto avançava com dificuldade para o pontão. Quebrei a fina camada de gelo e meti-me na água. O frio atingiu-me como uma queimadura.
Acabara de sair da água e preparava-me para regressar a casa, quando o vento acalmou momentaneamente. Algo me assustou e retive a respiração. Virei-me para trás.
Estava alguém parado no gelo.
Uma figura negra, uma silhueta, recortada contra a brancura. O sol acabara de surgir acima da linha do horizonte. Semicerrei os olhos para me proteger da luz e tentei distinguir quem era. Uma mulher. Parecia estar apoiada a uma bicicleta. Depois percebi que se tratava de um andarilho com rodízios. Sentia o meu corpo a tremer
29
de frio. Quem quer que fosse a visitante, não podia continuar ali parado, ao lado do meu buraco no gelo, nu em pelo. Corri para casa, perguntando-me se teria
tido uma visão.
Vesti-me e subi a colina, levando os binóculos.
Afinal não fora imaginação.
A mulher continuava lá. As suas mãos repousavam nos punhos do andarilho. Tinha uma mala de mão pendurada num dos braços e um cachecol enrolado à volta do barrete de peles, que trazia puxado sobre a testa. Tive dificuldade em distinguir-lhe o rosto através do binóculo. De onde teria vindo? Quem seria?
Tentei pensar. A menos que estivesse perdida, devia ter-me vindo visitar. Não há aqui ninguém além de mim.
Esperava que ela se tivesse desorientado. Não queria visitantes.
Ela permanecia imóvel, com as mãos nos punhos do andarilho. Comecei a sentir-me cada vez mais desconfortável. Havia algo de familiar naquela mulher parada no gelo.
Como teria conseguido chegar até ali, no meio de uma tempestade de neve, empurrando um andarilho? A ilha ficava a três milhas náuticas da costa. Parecia incrível que ela pudesse ter percorrido uma tal distância sem morrer de frio.
Fiquei a observá-la, através dos binóculos, durante mais de dez minutos. No preciso momento em que me preparava para guardar os binóculos, ela virou lentamente a cabeça e olhou na minha direção.
Foi um daqueles momentos da vida nos quais o tempo não se limita a parar, deixa mesmo de existir.
Os binóculos aproximaram-na e vi que era Harriet.
Embora a tivesse visto pela última vez há quase quarenta anos, na primavera, soube que era ela. Harriet Hõrnfeldt, a quem amara mais do que a qualquer outra mulher.
Era médico havia alguns anos, para infindável surpresa do meu pai, empregado de mesa de profissão, e para orgulho quase fanático da minha mãe. Tinha conseguido libertar-me da pobreza. Vivia em Estocolmo, a primavera de 1966 foi extraordinariamente bonita e a cidade parecia transbordar de vida. Algo estava a acontecer, a
30
minha geração rompera dos diques, escancarara as portas da sociedade e exigia mudança. Harriet e eu costumávamos passear por Estocolmo ao entardecer.
Harriet era alguns anos mais velha do que eu e nunca tivera quaisquer ambições de prosseguir os seus estudos. Trabalhava como vendedora numa sapataria. Dizia que me amava, e eu dizia que a amava, e sempre que ia com ela para o seu quarto alugado em Hornsgatan, fazíamos amor num sofá-cama que ameaçava constantemente desfazer-se em pedaços.
Pode dizer-se que o nosso amor era como um fogo devastador. No entanto, deixei-a. Tinha obtido uma bolsa do Instituto Karo-linska para fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Dia 23 de maio partia para o Arkansas e ficaria fora durante um ano. Pelo menos, foi isso que disse a Harriet. De facto, o voo partia para Nova Iorque, via Amesterdão, no dia 22.
Nem sequer me despedi dela. Desapareci, simplesmente.
Durante o ano que passei nos Estados Unidos não fiz qualquer tentativa para a contactar. Nada sabia acerca da sua vida, nem queria saber. Por vezes despertava de sonhos em que ela se suicidara. Sentia a consciência pesada, mas conseguia sempre silenciá-la.
Até que a sua presença se desvaneceu gradualmente do meu espírito.
Regressei à Suécia e comecei a trabalhar num hospital no norte do país, em Luleâ. Outras mulheres entraram na minha vida. Às vezes, sobretudo quando estava sozinho e tinha bebido demasiado, perguntava-me o que seria feito dela. Nessas alturas telefonava para as informações e perguntava por uma Harriet Kristina Hõrnfeldt. Mas desligava sempre antes que a operadora tivesse tempo para a localizar. Não ousava encontrar-me novamente com Harriet. Não ousava descobrir o que tinha acontecido.
Agora ela estava ali, no gelo, com um andarilho.
Tinham passado exatamente trinta e sete anos desde que eu desaparecera sem explicações. Tinha sessenta e seis anos. O que significava que ela devia ter sessenta e nove, quase setenta. Apetecia-me correr para dentro de casa e bater com a porta atrás de mim.
31
Depois, quando me aventurasse finalmente a sair de novo, ela teria desaparecido. Já não existiria. O que quer que ela desejasse, teria sido apenas uma miragem. E eu não a teria sequer visto ali no gelo.
Os minutos passaram.
O meu coração batia violentamente. O pedaço de couro de bacon que pendia na árvore ao lado da janela continuava abandonado. As aves ainda não haviam regressado, depois da tempestade.
Quando voltei a assestar os binóculos, vi-a estendida de costas, com os braços abertos. Larguei os binóculos e corri para o gelo, caindo várias vezes na neve profunda. Cheguei ao pé dela, verifiquei que o seu coração ainda batia e, quando me debrucei sobre o seu rosto, senti a sua respiração muito fraca.
Não tinha força para a levar ao colo até casa. Fui buscar o carrinho de mão às traseiras da casa dos barcos. Quando acabei de a içar lá para dentro, estava ensopado em suor. Ela não pesava assim tanto na época em que estávamos juntos. Ou seria eu que já não tinha a mesma força? Harriet jazia no carrinho, dobrada sobre si própria, uma figura grotesca que ainda não abrira os olhos.
Quando cheguei à margem, o carrinho de mão atolou-se. Ponderei brevemente a possibilidade de a arrastar até casa com o auxílio de uma corda, mas rejeitei a ideia: era demasiado indigno. Fui buscar uma pá à casa dos barcos e limpei a neve do caminho. O suor escorria-me pelo corpo. Ia constantemente ver como ela estava. Continuava inconsciente. Tomei-lhe outra vez o pulso. Estava muito rápido. Ataquei a neve com a pá, com todo o vigor.
Finalmente consegui levá-la para casa. A gata estava sentada no banco, por baixo da janela, e tinha observado todo o processo. Pus algumas tábuas sobre os degraus que conduziam à porta, abri-a, depois larguei a correr com o carrinho de mão, o mais depressa que podia. À terceira tentativa consegui alcançar o átrio, com Harriet e o carrinho. O cão estava deitado debaixo da mesa da cozinha, a olhar. Corri com ele, fechei a porta e icei Harriet para o sofá da cozinha. Estava tão transpirado e sem fôlego que fui obrigado a sentar-me e a descansar um pouco, antes de a examinar.
32
Medi-lhe a tensão arterial. Estava baixa, mas não a ponto de ser preocupante. Descalcei-lhe os sapatos e apalpei-lhe os pés. Estavam frios, mas não gelados. Os seus lábios também não indicavam que estivesse desidratada. A pulsação foi baixando lentamente, até chegar às sessenta e seis batidas por minuto.
Preparava-me para lhe pôr uma almofada por baixo da cabeça, quando ela abriu os olhos.
- Estás com um hálito horrível - afirmou.
Foram as suas primeiras palavras, ao fim de tantos anos. Tinha-a encontrado no gelo, lutara como um louco para a levar para minha casa, e a primeira coisa que ela
me disse foi que eu tinha mau hálito. O meu impulso imediato foi de a expulsar de novo. Não a tinha convidado, não sabia o que ela queria, mas sentia a culpa a subir
à superfície. Ela teria vindo pedir-me contas?
Não sabia. Mas que outra razão podia haver?
Apercebi-me de que estava com medo. Era como se tivesse sido apanhado numa armadilha.
33
CAPÍTULO 4
Harriet olhou lentamente em redor.
- Onde estou?
- Na minha cozinha. Vi-te lá fora, no gelo. Tinhas caído. Trouxe-te para aqui. Como estás?
- Estou bem. Apenas cansada.
- Queres água?
Ela anuiu. Fui buscar um copo. Harriet abanou negativamente a cabeça quando fiz menção de a ajudar e sentou-se sozinha. Estudei-lhe o rosto e concluí que afinal não tinha mudado assim tanto. Estava mais velha, mas não estava diferente.
- Devo ter desmaiado.
- Tens dores? Desmaias com frequência?
- Acontece.
- Que diz o teu médico acerca disso?
- O médico não diz nada, porque nunca lhe perguntei.
- A tua tensão está normal.
- Nunca tive problemas com a tensão.
Pôs-se a observar um corvo, que se agarrava ao pedaço de couro de bacon, do lado de fora da janela. Depois fitou-me, com os olhos límpidos e brilhantes.
- Estaria a mentir se dissesse que lamentava incomodar-te.
- Não me incomodas.
- Claro que incomodo. Apareci aqui sem me fazer anunciar. Mas isso não me rala.
Endireitou-se mais. Via-se que estava de facto com dores.
34
- Como chegaste cá? - perguntei.
- Porque não perguntas como te encontrei? Sabia da existência desta ilha, onde passavas os teus verões, e sabia que ficava ao largo da costa leste. Não foi fácil descobrir-te, mas acabei por conseguir. Telefonei para os Correios, porque percebi que deviam saber onde vivia uma pessoa chamada Fredrik Welin.
Comecei a lembrar-me de uma coisa. De manhã cedo tinha sonhado com um tremor de terra. Estava rodeado por um barulho extremamente intenso, mas de súbito tudo ficara novamente silencioso. O barulho não me acordara, mas tinha aberto os olhos quando o silêncio regressara. Devo ter ficado acordado alguns minutos, à escuta dos sons da escuridão.
Tudo estava normal e eu voltara a adormecer.
Agora compreendia que o barulho que ouvira no meu sonho fora o hidrocóptero de Jansson. Fora ele quem a trouxera e deixara no gelo.
- Queria chegar cedo. Foi como viajar numa máquina infernal. Ele foi muito simpático. Mas caro.
- Quanto te cobrou?
- Trezentos por mim e duzentos pelo andarilho.
- Mas isso é um escândalo!
- Há aqui mais alguém que tenha um hidrocóptero?
- Vou tratar de fazer com que te devolva metade. Ela apontou para o copo.
Enchi-o novamente com água. O corvo já deixara o pedaço de couro de bacon. Levantei-me e disse que ia buscar o andarilho. O chão estava cheio de poças de água, por causa das minhas botas. O cão veio de algures nas traseiras da casa e acompanhou-me até à margem.
Tentei pensar com clareza.
Passados quase quarenta anos, Harriet reaparecera, vinda do passado. A muralha protetora que tinha construído em meu redor, aqui na ilha, revelara-se inadequada. Fora penetrada por um cavalo de Tróia na forma do hidrocóptero de Jansson. Este abrira uma brecha na muralha... e cobrara imenso dinheiro para o fazer.
35
Saí para o gelo.
Soprava uma brisa de nordeste. Distinguia-se um bando de aves em voo, ao longe. As rochas e recifes estavam completamente brancos. Era um daqueles dias que são caracterizados por uma tranquilidade misteriosa que só se experimenta quando o mar está gelado. O sol estava baixo no céu. O andarilho ficara preso à camada de gelo. Soltei-o cuidadosamente, depois encaminhei-me para terra. O cão coxeava atrás de mim. Teria de o abater em breve. A ele e à gata. Estavam ambos velhos e os seus corpos causavam-lhes muito sofrimento.
Quando chegámos à margem, dirigi-me para a casa dos barcos, peguei numa manta muito puída e estendi-a sobre o banco do meu avô. Não podia voltar para dentro de casa enquanto não decidisse o que fazer. Só havia uma explicação possível para a vinda de Har-riet. Ia pedir-me contas. Ao fim de tantos anos, queria saber por que motivo a deixara. Que podia dizer-lhe? Que a vida mudara, que fora esse o rumo que as coisas haviam tomado. Tendo em conta o que me acontecera, Harriet devia ficar grata por eu ter desaparecido da sua vida.
Tinha frio, ali sentado no banco. Preparava-me para me levantar, quando ouvi ruídos ao longe. As vozes e o barulho dos motores viajam a longa distância sobre a água e o gelo. Compreendi que se tratava de Jansson. Não era dia de correio, mas ele estava ocupado com o seu serviço de táxi ilegal, sem dúvida. Regressei a casa. A gata estava sentada nos degraus, à espera para entrar. Mas fechei-a cá fora.
Antes de entrar na cozinha, estudei as minhas feições no espelho do átrio. Um rosto de olhar vazio, faces por barbear. Cabelo despenteado, lábios comprimidos, olhos encovados. Não propriamente bonito. Ao contrário de Harriet, que continuava a ter essencialmente o aspeto que sempre tivera, eu mudara com a passagem dos anos. Tenho a vaidade de pensar que era bastante bem-parecido quando era novo. Não há dúvida de que atraía uma boa dose de interesse da parte das raparigas nessa época. Até aos acontecimentos que tinham posto um fim à minha carreira de cirurgião, fui sempre muito exigente quanto ao meu aspeto e vestuário. Foi quando me mudei para aqui que a degradação se instalou. Tirei os três
36
espelhos que havia na casa e durante anos não voltei a pendurá-los. Não queria ver-me. Chegavam a passar seis meses antes que me dispusesse a ir ao continente cortar o cabelo.
Alisei os cabelos com os dedos e entrei na cozinha.
O sofá estava vazio. Harriet já lá não estava. A porta para a sala de estar estava entreaberta, mas não havia ninguém na sala. A única coisa que lá se encontrava era o gigantesco formigueiro. Depois ouvi o autoclismo. Harriet voltou para a cozinha e sentou-se de novo no sofá.
Pela maneira como ela se mexia, dei-me mais uma vez conta de que tinha dores, mas não conseguia perceber onde.
Harriet sentou-se no sofá, numa posição em que a luz lhe banhava o rosto. Tinha tal e qual o mesmo aspeto de quando passeávamos por Estocolmo nas noites de primavera, quando eu planeava fugir sem me despedir dela. Quanto mais se aproximava o dia da partida, mais multiplicava as minhas garantias de que a amava. Receava que ela me percebesse à légua e descobrisse a minha cuidadosamente planeada traição. Mas ela acreditou em mim.
Estava a olhar pela janela.
- Está um corvo naquele naco de carne pendurado na tua árvore.
- Couro de bacon - repliquei. - Não é um naco de carne. Os pássaros pequenos desapareceram quando se levantou a ventania, antes de se transformar numa tempestade e trazer a neve. Escondem-se sempre quando há vento forte. Não sei para onde vão.
Ela virou-se para me encarar.
- Estás com um aspeto horrível. Estás doente?
- Tenho o aspeto de sempre. Se tivesses chegado amanhã à tarde, estaria barbeado.
- Não te reconheço.
- Tu estás na mesma.
- Porque tens um formigueiro na sala de estar? Era uma pergunta direta, sem hesitações.
- Se não tivesses aberto a porta, não o terias visto.
- Não pretendia esquadrinhar a tua casa. Estava à procura da casa de banho.
Trespassou-me com os seus olhos claros.
37
- Tenho uma pergunta para te fazer - disse ela. - É evidente que devia ter-te contactado antes de vir. Mas não quis correr o risco de tu desapareceres outra vez.
- Não tenho para onde fugir.
- Toda a gente tem para onde ir. Mas quero que estejas aqui. Quero falar contigo.
- Assim o entendi.
- Não entendeste nada de nada. Mas preciso de aqui ficar alguns dias e tenho dificuldade em subir e descer escadas. Posso dormir neste sofá?
Harriet não ia censurar-me. Pelo que estava disposto a fazer tudo o que ela quisesse. Disse-lhe que claro que podia dormir no sofá, se assim o desejasse. Em alternativa, tinha uma cama de campanha, desdobrável, que podia montar na sala de estar. Partindo do princípio de que ela não tinha objeções a partilhar o quarto com um formigueiro. Ela disse que não. Fui buscar a cama de campanha e montei-a o mais longe possível do formigueiro. No meio da sala havia uma mesa, coberta por uma toalha branca, e ao lado erguia-se o formigueiro. Era quase da altura da mesa. Uma parte da toalha, que pendia da borda da mesa, já fora engolida.
Fiz a cama e pus uma almofada extra quando me lembrei de que Harriet sempre gostara de dormir com a cabeça relativamente alta.
Mas não era só para dormir.
Também para fazer amor. Não tardei a descobrir que ela gostava de ter várias almofadas empilhadas debaixo da cabeça. Alguma vez lhe perguntara por que motivo isso era tão importante? Não me lembrava.
Estendi a manta, depois espreitei pela porta entreaberta. Harriet estava a observar-me. Liguei os dois radiadores, verifiquei se estavam a aquecer e fui para a cozinha. Harriet parecia estar a recuperar as forças. Mas tinha os olhos encovados. O seu rosto estava constantemente alerta, pronto a defender-se de uma dor que podia atacar a qualquer momento.
- Vou deitar-me um bocadinho - anunciou, pondo-se em pé. Abri-lhe a porta. Fechei-a de novo antes mesmo de ela se deitar.
Senti um súbito impulso de trancar a porta e deitar fora a chave. Um dia, Harriet acabaria por ser engolida pelo meu formigueiro.
Vesti um casaco e saí.
38
Estava um dia bonito. As rajadas de vento tornavam-se menos violentas. Pus-me à escuta do som do hidrocóptero de Jansson. Seria uma serra elétrica aquilo que ouvia ao longe? Talvez a cortar lenha para uma fogueira?
Desci o pontão e fui até à casa dos barcos. Havia um barco a remos, suspenso de cordas e roldanas, que lembrava um peixe gigantesco encalhado na praia. A casa dos barcos cheirava a alcatrão. Há séculos que deixara de aplicar alcatrão nos barcos e equipamento de pesca, aqui no arquipélago, mas ainda tinha algumas latas, que abria de vez em quando apenas por causa do cheiro. Dá-me uma sensação de tranquilidade que nada mais consegue proporcionar-me.
Tentei recordar os pormenores da nossa despedida, que não fora uma verdadeira despedida, nessa noite de primavera, há trinta e sete anos. Tínhamos atravessado a Ponte Strõmbron, passeado pelo cais de Skeppsbro e seguido para Slussen. De que tínhamos falado? Harriet falara do seu dia na sapataria. Adorava falar-me dos seus clientes. Conseguia transformar até um par de galochas e uma lata de graxa para velhas botas de couro numa aventura. Voltavam-me à memória episódios e conversas há muito esquecidos. Era como se um arquivo, fechado há uma eternidade, tivesse sido subitamente aberto.
Sentei-me no banco do pontão por um bocado, antes de regressar a casa. Espreitei para a sala. Harriet estava a dormir, enrolada sobre si própria como uma criança pequena. Senti um nó na garganta. Sempre dormira assim. Subi a colina nas traseiras da casa e alonguei o olhar pela baía branca. Tinha a impressão de só agora ter compreendido o que fizera nessa ocasião, há tanto tempo. Nunca me atrevera a perguntar a mim próprio como Harriet teria reagido ao que acontecera. Quando se teria apercebido de que eu nunca mais voltaria? Tive uma dificuldade extrema em imaginar a dor que ela deve ter sentido, quando percebeu que a tinha abandonado.
Quando entrei em casa, Harriet já tinha acordado. Estava sentada no sofá da cozinha, à minha espera. A minha velha gata deitara-se nos seus joelhos.
- Dormiste? - perguntei. - As formigas deixaram-te em paz?
- Gosto do cheiro do formigueiro.
39
- Se a gata está a incomodar-te, podemos pô-la lá fora.
- Achas que tenho ar de quem está a ser incomodada? Perguntei-lhe se tinha fome e comecei a preparar uma refeição.
Tinha no congelador uma lebre que Jansson caçara. Mas ia demorar muito a descongelá-la. Harriet estava sentada no sofá, a olhar para mim. Fritei costeletas e cozi batatas. Pouco ou nada falávamos e estava tão nervoso que queimei a mão na frigideira. Porque não dizia ela nada? Porque viera?
Comemos em silêncio. Levantei a mesa e fiz café. Os meus avós tinham o costume de ferver o café em grão com água numa caçarola: não havia filtros de café nessa época. Faço o café do mesmo modo e conto sempre até dezassete depois de a água levantar fervura. Assim fica exatamente como eu gosto. Fui buscar duas chávenas, pus a comida da gata num prato e sentei-me na minha cadeira. Já estava escuro lá fora. Continuava à espera de que Harriet explicasse por que motivo viera. Perguntei-lhe se queria mais. Ela empurrou a chávena na minha direção. O cão pôs-se a arranhar a porta. Deixei-o entrar, dei-lhe de comer e depois fechei-o no átrio, com o andarilho.
- Alguma vez pensaste que voltaríamos a encontrar-nos?
- Não sei.
- Perguntei-te o que pensavas.
- Não sei o que pensava.
- Continuas tão evasivo como dantes.
Fechou-se em si própria. Fazia sempre aquilo quando se sentia magoada, lembrava-me perfeitamente disso. Senti um súbito desejo de estender a mão sobre a mesa e tocar na dela. Ela sentiria desejo de me tocar? Era como se quase quarenta anos de silêncio tivessem começado a ressaltar de um para o outro. Uma formiga atravessou a toalha. Teria vindo do formigueiro da sala ou não teria conseguido encontrar o caminho de regresso ao ninho, que suspeito existir no interior da parede sul da casa?
Levantei-me e disse que ia levar o cão à rua. O seu rosto estava mergulhado na sombra. A noite estava límpida e estrelada, de uma calma de morte. Sempre que vejo um céu assim, dou por mim a
40
desejar ser capaz de compor música. Fui de novo até ao pontão; já tinha perdido a conta às vezes que tinha feito aquilo naquele dia. O cão correu para o gelo, iluminado pela luz da casa dos barcos, e parou no sítio onde Harriet caíra. Era uma situação irreal. Abrira-se uma porta para a vida que eu julgava mais ou menos terminada, e a bonita mulher que eu amara outrora, mas a quem enganara, tinha regressado. Nesses tempos, quando ia ter com ela à saída do trabalho na sapataria de Hamngatan, ela vinha ao meu encontro empurrando uma bicicleta. Agora apoiava-se num andarilho. Senti-me perdido. O cão regressou e encaminhámo-nos para casa.
Parei nas traseiras e espreitei pela janela da cozinha.
Harriet ainda estava sentada à mesa. Demorei um bocado a perceber que estava a chorar. Esperei que ela limpasse os olhos e só depois entrei. O cão teve de ficar no átrio.
- Preciso de dormir - disse ela. - Estou esgotada. Amanhã digo-te por que motivo vim.
Não esperou pela minha resposta. Levantou-se, deu-me as boas-noites e percorreu-me rapidamente com os olhos, da cabeça aos pés. Depois fechou a porta. Fui até à sala onde tenho o meu aparelho de televisão, mas não o liguei. Encontrar Harriet esgotara-me. Claro que receava as acusações que não podiam deixar de aí vir. Que podia dizer-lhe? Nada.
Adormeci na poltrona.
Era meia-noite quando fui acordado pelo meu pescoço dorido. Fui à cozinha e escutei à porta de Harriet. Não se ouvia um som. Nem havia qualquer faixa de luz por baixo da porta. Arrumei a cozinha, tirei um pão grande e uma baguete do congelador, abri a porta ao cão e à gata, e fui para a cama. Mas não conseguia dormir. A porta que devia isolar-me de tudo o que julgava pertencer ao passado começara a bater, a balouçar para trás e para a frente. Era como se o tempo que tínhamos passado juntos estivesse a aproveitar o vento para forçar a entrada.
Vesti o roupão e voltei para a cozinha. Os animais estavam a dormir. Lá fora estavam sete graus negativos. A mala de Harriet jazia sobre o sofá. Levei-a para a mesa e abri-a. Continha uma escova de cabelo e um pente, uma carteira e um par de luvas, um
41
molho de chaves, um telemóvel e dois frascos de remédio. Li os rótulos: era evidente que se tratava de analgésicos e antidepres-sivos. Receitados por um Dr. Arvidsson, de Estocolmo. Comecei a sentir-me pouco à-vontade e continuei a revolver a mala. Mesmo no fundo encontrava-se um livro de endereços. Estava muito gasto e manuseado, cheio de números de telefone. Quando procurei na letra "W", vi, para minha grande surpresa, que o meu número de Estocolmo, de meados dos anos sessenta, ainda lá estava.
Não fora riscado.
Ela teria conservado o livro de endereços ao longo de todos aqueles anos? Preparava-me para o repor no seu lugar, quando reparei numa folha de papel entalada na capa. Desdobrei-a e li-a.
Depois fui postar-me à porta. O cão veio sentar-se ao meu lado.
Ainda não sabia por que motivo Harriet viera à minha ilha.
Mas tinha encontrado na sua mala uma carta que lhe comunicava que estava gravemente doente e que não lhe restava muito tempo de vida.
42
CAPÍTULO 5
O vento foi subindo e descendo toda a noite.
Dormi mal. Fiquei deitado, a ouvir a ventania. Rajadas de noroeste - sentia a corrente de ar através da parede. Era isso que anotaria no meu diário, no dia seguinte.
Mas perguntei-me se iria registar o facto de Harriet ter vindo visitar-me.
Ela dormia numa cama de campanha, diretamente por baixo do sítio onde eu me encontrava. Na minha cabeça, lia e relia a carta que encontrara na sua mala. Tinha cancro no estômago e a doença alastrara. As drogas citotóxicas só tinham servido para tornar as coisas um pouco mais lentas, qualquer operação estava fora de questão. Tinha uma consulta no hospital, com o seu médico assistente, no dia 12 de fevereiro.
O médico em mim ainda estava suficientemente vivo para ver o que aí vinha. Harriet ia morrer. O tratamento que recebera até então não a curaria e talvez nem sequer lhe prolongasse a vida. Estava a entrar na fase terminal e paliativa, para utilizar os termos médicos.
Sem cura, mas sem sofrimento desnecessário.
Ali deitado, no escuro, debatia-me com o pensamento que me vinha à mente uma e outra vez: era Harriet quem ia morrer, não eu. Embora tivesse sido eu quem cometera o pecado capital de a abandonar, era ela quem estava doente. Não acredito em Deus. Tirando um curto período, na fase inicial da minha preparação como médico, raramente fui afetado por considerações religiosas. Nunca tive discussões com representantes do outro mundo. Nenhuma voz interior que me incitasse a ajoelhar. Mas agora, ali deitado, bem desperto, sentia-me
43
grato por a ameaça não pesar sobre a minha cabeça. Mal dormi, ao longo de várias horas. Levantei-me para urinar e escutar à porta de Harriet. Tanto ela como as formigas pareciam estar adormecidas.
Levantei-me às seis da manhã.
Quando cheguei à cozinha, constatei com grande surpresa que ela já tomara o pequeno-almoço. Ou, pelo menos, bebera café. Tinha aquecido as borras da véspera. O cão e a gata estavam lá fora: ela devia tê-los deixado sair. Abri a porta da frente. Nevara ligeiramente durante a noite. Viam-se os rastos deixados pelas patas do cão e da gata. E pegadas humanas.
Harriet tinha saído.
Esquadrinhei a escuridão com o olhar. A madrugada ainda vinha longe. Seria possível ouvir alguns sons? O vento soprava em rajadas violentas. As três filas de pegadas seguiam na mesma direção: para as traseiras da casa. Não precisei de ir longe. Há um velho banco de madeira no meio das macieiras. A minha avó costumava sentar-se lá. Tricotava, esforçando os olhos míopes, ou ficava simplesmente sentada, com as mãos cruzadas no colo, a ouvir o barulho do mar, que nunca se calava a menos que estivesse gelado. Mas não era o vulto fantasmagórico da minha avó que lá estava agora. Harriet acendera uma vela, que pousara no chão, protegida do vento por uma pedra. O cão estava deitado aos seus pés. Estava embuçada como quando a vira pela primeira vez, no dia anterior: barrete puxado sobre as orelhas, cachecol em torno do rosto. Sentei-me no banco, ao seu lado. A temperatura do ar era abaixo de zero, mas como o vento noturno acalmara, não parecia estar especialmente frio.
- Isto aqui é muito bonito - disse ela.
- Está escuro. Não se vê nada. E nem sequer se ouve o mar, pois está gelado.
- Sonhei que o formigueiro crescia à volta da minha cama.
- Posso mudar a tua cama para a cozinha, se preferires.
O cão levantou-se e foi-se embora. Deslocava-se cuidadosamente, como os cães fazem quando estão surdos e, portanto, têm medo. Perguntei a Harriet se tinha reparado que o cão estava surdo. Não, não tinha. A gata apareceu, muito empertigada. Lançou-nos um olhar penetrante, depois desapareceu na escuridão. O pensa-
44
mento que já tivera muitas vezes voltou-me à mente: ninguém compreende o comportamento dos gatos. Compreenderia o meu próprio comportamento? Harriet compreenderia o seu comportamento?
- Deves querer saber porque vim cá - disse ela. A vela bruxuleou, sem se apagar.
- Foi inesperado.
- Alguma vez pensaste que voltarias a ver-me? Alguma vez o desejaste?
Não respondi. Quando uma pessoa abandona outra, sem lhe explicar porquê, não há verdadeiramente nada a dizer. Não há abandono que possa ser desculpado ou explicado. Tinha abandonado Harriet. Portanto não disse nada. Fiquei meramente ali sentado, a ver a dança da chama da vela, à espera.
- Não vim cá para te massacrar. Vim para te suplicar que cumpras a tua promessa.
Compreendi imediatamente o que ela queria dizer.
A lagoa da floresta.
Onde eu nadara em criança, no verão em que festejara o meu décimo aniversário, quando tinha ido com o meu pai visitar a região do norte da Suécia onde ele nascera. Tinha prometido a Harriet uma visita a essa lagoa da floresta, quando regressasse do meu ano na América. Iríamos lá e nadaríamos juntos nas águas escuras, sob o luminoso céu noturno. Imaginava isso como uma bela cerimónia: a água negra, o céu claro de verão, quando nunca chega a escurecer, os chamamentos distantes das mobelhas-grandes, a lagoa que os habitantes locais afirmavam não ter fundo. Iríamos lá nadar e, depois disso, nada nos separaria jamais.
- Talvez tenhas esquecido a promessa que me fizeste?
- Lembro-me muito bem do que disse.
- Quero que me leves lá.
- É inverno. A lagoa vai estar coberta de gelo.
Pensei no buraco que abria no gelo todas as manhãs. Seria capaz de fazer a mesma coisa numa lagoa florestal no extremo norte da Suécia? Onde o gelo é tão duro como granito?
45
- Quero ver a lagoa. Mesmo que esteja coberta de neve e gelo. Para saber que é verdadeira.
- É verdadeira. A lagoa existe.
- Nunca disseste como se chamava.
- É demasiado pequena para ter nome. O país está cheio de pequenas lagoas sem nome. Quase não há uma única rua de cidade, ou estrada rural, que não tenha um nome,
mas abundam lagoas sem nome nas florestas.
- Quero que cumpras a tua promessa.
Pôs-se em pé com dificuldade. A vela caiu e apagou-se com um silvo. O negrume cerrou-se à nossa volta. A luz da janela da cozinha não chegava ali. Apesar disso, vi que ela tinha trazido o seu andarilho. Quando estendi a mão para a ajudar, ela recusou.
- Não quero ajuda. Quero que cumpras a tua promessa. Quando Harriet e o seu andarilho verde chegaram à faixa de
neve iluminada, pareceu-me que ela caminhava por uma rua banhada pelo luar. No tempo em que estávamos juntos, há quase quarenta anos, fingíamos, de modo algo acriançado, ser adoradores da lua. Harriet lembrar-se-ia disso? Segui o seu perfil com os olhos, enquanto abria caminho entre as pedras e rochas cobertas de neve. Tinha dificuldade em acreditar que ela estava a morrer. Uma pessoa que se aproximava da última fronteira. Um mundo diferente, ou uma escuridão diferente, envolvê-la-iam. Harriet arrumou o andarilho ao pé dos três degraus e agarrou-se com força ao corrimão, lutando para chegar à porta da frente. Quando a abriu, a gata esgueirou-se entre as suas pernas e entrou em casa. Harriet foi para o seu quarto. Escutei, comprimindo o ouvido contra a porta fechada. Ouvi o tilintar ligeiro de um frasco. Os remédios que ela tinha na mala. A gata miou e roçou-se nas minhas pernas. Dei-lhe de comer e fui sentar-me à mesa da cozinha.
Ainda estava escuro lá fora.
Tentei ler a temperatura no termómetro preso à parte de fora do caixilho da janela, mas o vidro que continha a coluna de mercúrio estava embaciado. A porta abriu-se e Harriet entrou. Tinha escovado o cabelo e vestido uma camisola lavada. Era azul-alfazema.
46
Isso recordou-me a minha mãe e as suas lágrimas que cheiravam a alfazema. Mas Harriet não estava a chorar. Sorriu ao sentar-se no sofá da cozinha.
- Nunca acreditaria que virias a transformar-te numa pessoa que vive com um cão, uma gata e um formigueiro.
- A vida raramente corre como julgávamos.
- Não vou perguntar-te como correu a tua vida. Mas quero que cumpras a tua promessa.
- Não creio que seja capaz de encontrar novamente o caminho para a lagoa da floresta.
- Tenho a certeza de que és. Ninguém tem um sentido de orientação e distâncias tão bom como o teu.
Não podia discutir com aquela afirmação. Consigo encontrar sempre o meu caminho, mesmo no mais complicado labirinto de ruas. E nunca me perco no campo.
- Suponho que poderia encontrá-lo, se fizesse um esforço. Mas não compreendo porquê.
- Porque foi a promessa mais bonita que me fizeram na vida.
- A mais bonita?
- A única genuinamente bonita.
Foram essas as palavras dela. A única promessa genuinamente bonita. Era como se tivesse posto uma grande orquestra a tocar na minha cabeça, tal era o poder das suas palavras.
- Passamos a vida a ouvir promessas - disse ela. - Fazemo-las nós próprios e ouvimos os outros fazer as deles. Os políticos não falam senão de proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas quando envelhecem e de um serviço de saúde no qual ninguém fica jamais com escaras. Os bancos prometem altas taxas de juro, há alimentos que prometem fazer-nos perder peso se os comermos, e cremes corporais que garantem uma velhice com menos rugas. A vida é, muito simplesmente, uma questão de conduzirmos o nosso pequeno bote por entre uma corrente infindável de promessas em constante mutação. E de quantas nos lembramos? Esquecemos aquelas que gostaríamos de recordar e lembramo-nos daquelas que preferiríamos esquecer. Promessas quebradas são como sombras a dançar no crepúsculo. Quanto mais velha sou, maior a clareza com
47
que as vejo. A promessa mais bonita que me fizeram na vida foi a tua, de me levares à lagoa da floresta. Quero vê-la e sonhar que estou a nadar nela, antes que seja demasiado tarde.
Levá-la-ia. A única coisa que talvez pudesse evitar, era partir no meio do inverno. Mas talvez ela não ousasse esperar pela primavera, por causa da sua doença?
Pensei que talvez devesse dizer-lhe que sabia que ela estava mortalmente doente. Mas não o fiz.
- Compreendes o que quero dizer quando falo das muitas promessas que acompanham a nossa viagem através da vida?
- Tentei evitar ser arrastado por isso. E-se enganado com muita facilidade.
Ela estendeu a mão e pousou-a sobre a minha.
- Houve um tempo em que te conheci. Caminhávamos pelas ruas de Estocolmo. Na minha memória, é sempre primavera quando passeávamos por lá. A pessoa que tinha ao meu lado nesse tempo não é a mesma pessoa que és agora. Esse homem podia ter-se tornado fosse o que fosse... exceto um homem solitário, numa ilhota no limite do mar aberto.
A sua mão ainda repousava sobre a minha. Não lhe toquei.
- Lembras-te de alguma escuridão? - perguntou ela.
- Não. Havia sempre luz.
- Não sei o que aconteceu.
- Eu também não. Ela apertou-me a mão.
- Não precisas de mentir. Claro que sabes. Provocaste-me uma dor sem fim. Não creio que tenha chegado a ultrapassar essa dor, nem mesmo agora. Queres saber como foi?
Não respondi. Ela tirou a mão e recostou-se no sofá.
- A única coisa que quero, é que cumpras a tua promessa. Tens de deixar esta ilha por alguns dias. Depois podes voltar para cá e nunca mais te incomodarei.
- Não é possível - afirmei. - E demasiado longe. O meu carro não aguenta.
- Só quero que me mostres como chegar lá.
Era evidente que não ia desistir.
48
Começava a clarear. A noite chegara ao fim.
- Casei-me - disse ela de repente. - E tu?
- Divorciei-me.
- Então também casaste? Com quem?
- Não as conheces.
- Plural?
- Casei duas vezes. A minha primeira mulher chamava-se Birgit e era enfermeira. Ao fim de dois anos não tínhamos nada para dizer um ao outro. E ela queria voltar a estudar, para se tornar engenheira de minas. Que me interessavam pedras, gravilha e poços de minas? A minha segunda mulher chamava-se Rose-Marie e era antiquária. Não imaginas quantas vezes deixei o bloco operatório, depois de um longo dia de trabalho, e a acompanhei a um ou outro leilão, e depois tinha de transportar até casa um armário velho, da cozinha de um camponês. Perdi a conta ao número de mesas e cadeiras que tive de pôr de molho em lixívia numa banheira velha, para as livrar da tinta. Isso durou quatro anos.
- Tens filhos?
Abanei a cabeça. Noutros tempos, há séculos, tinha imaginado que, quando envelhecesse, teria filhos para iluminarem as trevas da minha velhice. Agora era demasiado tarde; sou um pouco como o meu barco, estou fora de água e coberto por uma lona.
Olhei para Harriet:
- Tu tens filhos?
Ela fitou-me longamente antes de responder.
- Tenho uma filha.
Ocorreu-me que essa filha podia ser minha, se eu não a tivesse abandonado.
- Chama-se Louise - prosseguiu Harriet.
- É um lindo nome - observei.
Levantei-me e fiz café. A manhã já ia bem adiantada. Esperei que a água levantasse fervura, contei até dezassete e deixei em infusão. Tirei duas chávenas do armário e cortei o pão, que entretanto tinha descongelado, em fatias. Éramos um casal de velhos reformados, sentados a tomar café em janeiro. Aquele era um dos milhares de cafés da manhã que têm lugar todos os dias
49
neste nosso país. Perguntei-me se algum dos outros ocorreria em circunstâncias remotamente semelhantes às da minha cozinha.
Depois de tomar o seu café, Harriet recolheu ao quarto que partilhava com o formigueiro e fechou a porta.
Pela primeira vez em muitos anos, dispensei o meu banho de inverno. Hesitei durante bastante tempo e estava prestes a despir-me e ir buscar o machado, quando mudei de opinião. Não haveria mais banhos de inverno para mim enquanto não levasse Harriet à lagoa da floresta.
Em vez de vestir o roupão, enverguei um casaco e fui até ao pontão. Houvera uma inesperada mudança de tempo: começara um degelo e a neve colava-se às minhas botas.
Pude gozar algumas horas só para mim. O sol rompeu através das nuvens; a neve e o gelo começaram a derreter e a pingar do telhado da casa dos barcos. Fui lá dentro, peguei numa das minhas latas de alcatrão e abri-a. O cheiro acalmou-me. Quase adormeci na pálida luz do sol.
Lembrei-me do tempo em que Harriet e eu estávamos juntos. Senti que pertencia a uma época que já não existia. Vivia na paisagem estranhamente nua daqueles que tinham sobrado, que tinham perdido o pé no seu próprio tempo e eram incapazes de viver com as inovações da nova época. Pus-me a divagar. Quando Harriet e eu estávamos juntos, toda a gente fumava. Todo o tempo, em toda a parte. A minha juventude estava atulhada de cinzeiros. Ainda me lembro dos médicos e professores que me ensinaram a ser uma pessoa com direito a usar uma bata branca; todos fumavam como chaminés. Nesse tempo, o carteiro que entregava o correio nos recifes era Hjalmar Hedelius. No inverno patinava de ilha em ilha. A sua mochila devia ser incrivelmente pesada e isso foi antes da atual obsessão com o correio publicitário.
Os meus pensamentos desordenados foram interrompidos pelo som de um hidrocóptero que se aproximava.
Jansson já passara pela Sra. Akerblom, viúva, e agora vinha para a minha ilha a todo o gás, trazendo consigo as suas múltiplas maleitas e dores. A dor de dentes, que o incomodava antes do Natal, desaparecera. Da última vez que fundeara junto ao meu pontão,
50
tinha-me pedido para examinar uns quantos sinais castanhos que I se tinham formado nas costas da sua mão esquerda. Tranquilizei-o, garantindo-lhe que eram marcas normais do envelhecimento. Ele sobreviveria a todos os habitantes das ilhas. Quando nós, os reformados, tivermos desaparecido, Jansson continuará a sacolejar no seu velho barco de pesca convertido ou a acelerar no seu hidrocóp-tero. A menos que se tenha tornado redundante, bem entendido. O que será quase certamente o seu
destino.
Jansson deslizou para o pontão, desligou o motor e começou a despir os seus vários casacos e barretes. Tinha o rosto vermelho, os cabelos em pé.
- Feliz Ano Novo para si - disse ele, perfilando-se no pontão.
- Obrigado.
- O inverno ainda está connosco.
- Sem dúvida.
- Tenho tido alguns problemas de estômago, desde a Passagem de Ano. Tenho dificuldade em ir à casa de banho. Obstipação, como se diz.
- Coma ameixas secas.
- Será um sintoma de qualquer outra coisa?
- Não.
Jansson tinha dificuldade em disfarçar a curiosidade. Não parava de lançar olhadelas em direção à minha casa.
- Como festejou o Ano Novo?
- Não festejo o Ano Novo.
- Este ano comprei uns foguetes. Não fazia isso há anos. Infelizmente, um deles rebentou a porta do barracão.
- Geralmente estou a dormir como uma pedra à meia-noite. Não vejo qualquer razão para mudar de hábitos simplesmente por ser o último dia do ano.
Jansson estava morto por perguntar por Harriet. Sem dúvida que ela não lhe dissera quem era, apenas que pretendia visitar-me.
- Tem correio para mim?
Jansson fitou-me, atónito. Nunca lhe tinha perguntado tal coisa.
- Não, nada - replicou. - Nunca há muito correio nesta altura do ano.
51
A conversa e a consulta tinham terminado. Jansson deitou um último olhar a casa, depois voltou penosamente para o seu hidro-cóptero. Comecei a afastar-me. Quando ele ligou o motor, tapei os ouvidos com as mãos. Voltei-me e fiquei a vê-lo desaparecer numa nuvem de neve, em torno do promontório conhecido como Ponta de Antonsson, em nome do comandante de um cargueiro que bebera um copito a mais e encalhara quando se preparava para encostar o seu barco para o inverno.
Harriet estava sentada à mesa da cozinha quando entrei.
Notei que se tinha maquilhado. Fosse como fosse, estava menos pálida do que antes. A sua beleza surpreendeu-me mais uma vez e pensei que fora um idiota por a ter deixado.
Sentei-me à mesa.
- Levar-te-ei à lagoa da floresta - declarei. - Cumprirei a minha promessa. Serão precisos dois dias para lá chegarmos, no meu carro velho. Teremos de passar uma noite num hotel. E devo dizer-te que não tenho a certeza de ser capaz de encontrar o caminho. Naquela região, as pistas dos madeireiros estão sempre a mudar, consoante o lugar onde está a ocorrer o corte das árvores. E mesmo que consiga encontrar o caminho certo, não há qualquer garantia de que esteja transitável. Posso ter de procurar alguém que tenha um trator com limpa-neves para nos abrir a estrada. No mínimo, vai demorar quatro dias, ao todo. Onde queres que te leve, quando tudo acabar?
- Podes deixar-me simplesmente na berma da estrada.
- Na berma da estrada? Com o teu andarilho?
- Consegui chegar aqui, não consegui?
Havia uma aresta cortante na sua voz. Não quis insistir. Se ela preferia ser deixada na berma da estrada, não ia pôr-me a discutir.
- Podemos partir amanhã - prossegui. -Jansson pode levar-te, com o andarilho, até à costa.
- E tu?
- Vou a pé pelo gelo.
Levantei-me, pois acabara de me dar conta de que tinha uma enorme quantidade de coisas para fazer. Primeiro que tudo, tinha de fazer uma entrada para a gata na porta da frente e certificar-me de que o cão podia ficar no canil, que estava abandonado há muitos
52
anos. Teria de lhes deixar comida suficiente para uma semana. Escusado seria dizer que eles comeriam tudo logo que pudessem. Poupar para o futuro não era um
conceito com o qual estivessem familiarizados. Mas aguentar-se-iam sem comer alguns dias.
Passei o dia a preparar uma entrada para a gata na porta da frente e a ensinar o animal a utilizá-la. O canil estava em pior estado do que esperava. Preguei um bocado de feltro no teto, para o isolar da neve e da chuva, e estendi um par de cobertores velhos no chão, para o cão se deitar. Mal terminara essa tarefa e já ele estava estendido lá dentro.
Telefonei a Jansson nessa noite. Nunca lhe tinha telefonado.
- Ture Jansson, carteiro.
Parecia estar a proclamar um título de nobreza.
- Fala Fredrik. Espero não estar a incomodá-lo.
- De maneira nenhuma. Não telefona muitas vezes.
- Nunca lhe tinha telefonado. Gostava de saber se pode fazer um serviço de táxi, amanhã?
- Uma senhora com um andarilho?
- Visto que lhe cobrou uma quantia escandalosa quando a trouxe cá, parto do princípio de que amanhã não cobrará nada. Se não estiver de acordo, irei, bem entendido, denunciá-lo pela prática de um serviço de táxi ilegal, aqui no arquipélago.
Ouvi Jansson arquejar na outra ponta da linha.
- A que horas? - perguntou, por fim.
- Não tem distribuição de correio amanhã. Pode estar aqui às dez?
Harriet passou a maior parte do dia deitada, a descansar, enquanto eu fazia os preparativos para a viagem. Perguntei-me se ela aguentaria o esforço. Mas esse problema não era meu. Eu ia apenas cumprir o meu dever, nada mais. Descongelei a lebre e meti-a no forno, para o jantar. A minha avó guardara uma receita de lebre num livro de culinária. Já tinha seguido as suas instruções anteriormente, com bons resultados, e esta vez não foi exceção. Quando nos sentámos à mesa da cozinha, notei que os olhos de Harriet estavam novamente vidrados. Compreendi que o tilintar que ouvira, vindo do seu quarto, não era dos frascos de remédio, mas sim de garrafas de álcool. Harriet passava a vida a ir ao quarto para emborcar bebidas. Comecei a mastigar
53
a minha lebre e ocorreu-me que a viagem até à lagoa gelada da floresta podia revelar-se ainda mais problemática do que julgara a princípio.
A lebre estava boa. Mas Harriet passou mais tempo a brincar com a comida do que a comer. Sabia que os doentes de cancro sofrem frequentemente de falta de apetite crónica.
Rematámos a refeição com café. Dei os restos de lebre ao cão e à gata. Normalmente são capazes de partilhar comida sem se arranharem e lutarem. Por vezes imagino que são um velho casal, um pouco como a minha avó e o meu avô.
Disse a Harriet que Jansson viria buscá-la no dia seguinte, entreguei-lhe as chaves do meu carro, descrevi-lho e expliquei-lhe onde estava estacionado. Ela podia sentar-se lá dentro à minha espera, enquanto eu atravessava o gelo a pé.
Harriet pegou nas chaves e guardou-as na mala. Depois, sem qualquer aviso, perguntou-me se alguma vez tivera saudades dela, em todos aqueles anos.
- Sim - respondi. - Tive saudades tuas. Mas ter saudades de qualquer coisa só serve para me deprimir. Mete-me medo.
Ela não fez mais perguntas, mas desapareceu de novo no seu quarto; quando regressou, tinha os olhos ainda mais vidrados do que antes. Não falámos muito nessa noite. Creio que ambos receávamos estragar a viagem que faríamos juntos. Além disso, sempre tivemos facilidade em estar em silêncio na companhia um do outro.
Vimos um filme acerca de umas pessoas que comeram até à morte. Não fizemos quaisquer comentários quando o filme acabou, mas tenho a certeza de que partilhávamos a mesma opinião.
Era um filme muito mau.
Nessa noite, dormi um sono agitado.
Passei horas a pensar acerca das muitas coisas que podiam correr mal na viagem. Harriet ter-me-ia contado toda a verdade? Cada vez suspeitava mais que o que ela verdadeiramente queria era outra coisa, que havia outra razão para ter vindo à minha procura ao fim de tantos anos.
Antes de conseguir finalmente adormecer, resolvi ter cuidado. Não podia saber o que me esperava, bem entendido. Tudo o que queria, era estar preparado.
O desassossego persistia, sussurrando os seus avisos silenciosos.
54
CAPÍTULO 6
Estava uma manhã calma e límpida quando partimos.
Jansson chegou a horas. Içou o andarilho para bordo, depois ajudámos Harriet a espremer-se atrás das costas largas do carteiro. Não referi a minha intenção de partir também. Da próxima vez que Jansson viesse e constatasse que eu não estava no pontão à sua espera, iria até à casa. Talvez pensasse que estava morto lá dentro? Portanto escrevi um bilhete e preguei-o à porta da frente: "Não estou morto."
O hidrocóptero desapareceu por trás do promontório. Tinha fixado um par de velhos grampos de caça às minhas botas, para não escorregar no gelo.
A minha mochila pesava nove quilos. Verificara o peso na velha balança de casa de banho da minha avó. Caminhei em passo rápido, mas com cuidado para evitar transpirar.
Tenho sempre medo quando sou obrigado a atravessar gelo sobre águas profundas. Dá-me cabo dos nervos. Logo a seguir ao promontório mais oriental da minha ilha fica uma depressão funda, conhecida como Poço de Argila, que chega a atingir cinquenta e seis metros de profundidade.
Franzi os olhos para me proteger da intensidade da luz solar refletida pelo gelo. Viam-se algumas pessoas a patinar ao longe, em direção aos promontórios exteriores. Tirando isso, nada: o arquipélago, no inverno, é como um deserto. Um mundo vazio, com caravanas ocasionais de patinadores. E, de vez em quando, um nómada, como eu.
55
Quando cheguei à costa, à velha aldeia de pescadores cujo pequeno porto raramente é utilizado hoje em dia, Harriet estava sentada no meu carro, à espera. Fechei o andarilho e arrumei-o na bagageira, depois sentei-me ao volante.
- Obrigada - disse Harriet. - Obrigada por isto. Fez-me uma festa rápida no braço. Liguei o motor e partimos
para a nossa longa jornada rumo ao norte.
A viagem começou mal.
Ainda não tínhamos percorrido dois quilómetros quando um alce irrompeu subitamente no meio da estrada. Era como se tivesse estado à espera nos bastidores, para fazer uma entrada dramática quando nos aproximássemos. Travei a fundo e evitei à justa embater no seu enorme corpo. O carro derrapou e ficámos presos num monte de neve, ao lado da estrada. Tudo aconteceu num relâmpago. Eu gritara a plenos pulmões, mas do lado de Harriet não viera um único som. Ficámos sentados em silêncio. O alce fugira para a floresta densa.
- Não vinha em excesso de velocidade - afirmei, numa tentativa pouco convincente e totalmente desnecessária de me desculpar. Como se tivesse sido por minha culpa que o alce andara a rondar na berma da estrada e tivesse escolhido aquele preciso momento para nos ver mais de perto.
- Não faz mal - respondeu Harriet.
Olhei para ela. Talvez não haja necessidade de ter medo de alces que aparecem do nada, quando se vai morrer em breve?
O carro estava completamente atolado. Fui buscar uma pá à bagageira, limpei a neve à volta das rodas da frente, parti uns quantos ramos de abeto e estendi-os no caminho, atrás das rodas. Em seguida, engatei a marcha-atrás, saí do monte de neve com um arranque súbito e pudemos prosseguir a nossa jornada.
Passados mais nove ou dez quilómetros, senti o carro a fugir para a esquerda. Parei e apeei-me. Tínhamos um furo num dos pneus dianteiros. Ocorreu-me que a viagem
dificilmente podia ter começado pior. Não é uma experiência agradável, ajoelhar na neve e no gelo, a remexer em porcas e parafusos e a manusear pneus sujos. Ainda não perdi a exigência de limpeza de um cirurgião durante uma operação.
56
Quando acabei de mudar o pneu, estava encharcado em suor. E também estava zangado. Nunca conseguiria achar a lagoa. Har-riet cairia redonda e, sem dúvida, um parente
ou amigo apareceria a acusar-me de ter procedido como um irresponsável ao empreender uma viagem tão longa com uma pessoa tão doente.
Partimos de novo.
A estrada estava escorregadia, a neve amontoava-se em pilhas muito altas de ambos os lados. Cruzámo-nos com alguns camiões e passámos por um velho Volvo Amazon que estava estacionado na berma: um homem acabava de sair com o seu cão. Harriet não disse nada. Olhava pela janela do lado do passageiro.
Comecei a pensar na viagem que fizera com o meu pai até à lagoa da floresta, há muito tempo. Ele acabara de ser despedido de novo, por se recusar a trabalhar à noite no restaurante que o empregava. Partíramos de Estocolmo, rumando a norte, e tínhamos passado a noite num hotel barato à saída de Gávle. Lembro-me vagamente que se chamava Furuvik, mas posso estar enganado. Partilhámos o quarto; era julho e estava muito abafado. Foi um dos verões mais quentes dos finais dos anos quarenta.
Como o meu pai tinha estado a trabalhar num dos principais restaurantes de Estocolmo, ganhara bom dinheiro. Foi um período no qual a minha mãe chorou invulgarmente pouco. Um dia, o meu pai chegou a casa com um chapéu novo para ela. Nessa ocasião, ela chorou lágrimas de felicidade. Nesse mesmo dia, o meu pai tinha servido o diretor de um dos maiores bancos da Suécia, o qual estava muito bêbedo, embora tivesse almoçado cedo, e dera-lhe uma gorjeta exageradamente grande.
Se bem entendo, receber uma gorjeta demasiado grande era tão degradante para o meu pai como receber uma demasiado pequena, ou não receber gorjeta de todo. No entanto, tinha convertido a gorjeta num chapéu vermelho para a minha mãe.
Ela não quis vir connosco quando ele sugeriu irmos até Norrland e gozarmos alguns dias de férias antes de recomeçar a procurar trabalho.
Tínhamos um carro velho. Certamente que o meu pai começara a poupar para ele desde muito novo. Instalámo-nos nesse
57
mesmo carro de manhã cedo e partimos de Estocolmo, tomando a estrada principal para Uppsala.
Passámos a noite nesse hotel, que creio chamar-se Furuvik. Lembro-me de acordar pouco antes do nascer do sol e de ver o meu pai de pé, nu, diante da janela, a olhar através da cortina fina. Dava a impressão de ter ficado petrificado no meio de um pensamento. Durante aquilo que me pareceu uma eternidade, mas provavelmente não passou de um breve instante, tive um medo de morte e convenci-me de que ele se preparava para me abandonar. Era como se diante de mim não estivesse mais do que uma concha. Dentro do invólucro de pele apenas um enorme vácuo. Não sei quanto tempo ele ali ficou, imóvel, mas lembro-me distintamente do meu pavor de que ele fosse abandonar-me. Por fim, ele virou-se e olhou para mim, que estava deitado com os cobertores puxados até ao queixo e os olhos meio fechados. Voltou para a cama e só quando tive a certeza de que ele tinha adormecido é que me virei, comprimi a cabeça contra a parede e adormeci também.
Chegámos ao nosso destino no dia seguinte.
A lagoa não era grande. A água era completamente negra. Do lado oposto àquele onde nos encontrávamos havia penedos altíssimos, mas toda a lagoa estava rodeada de floresta densa. Não havia uma margem propriamente dita, nenhuma faixa de transição entre a água e a floresta. Era como se a água e as árvores estivessem ligadas numa prova de força, sem que nenhuma delas fosse capaz de afastar a outra.
O meu pai bateu-me no ombro.
- Vamos dar um mergulho - declarou.
- Não trouxe calções de banho.
Ele fitou-me com uma expressão divertida.
- E quem trouxe? Quem julgas que vai ver-nos? Perigosos duendes da floresta, escondidos atrás das árvores?
Começou a despir-se. Observei subrepticiamente o seu corpo volumoso e senti-me envergonhado. Tinha uma barriga enorme, que se projetou para fora e baloiçou quando ele tirou as cuecas. Segui-lhe o exemplo, nervosamente consciente da minha própria nudez. O meu pai deu alguns passos dentro de água e depois
58
mergulhou. O seu corpo parecia lançar-se para diante, qual baleia gigantesca, espalhando o caos por toda a lagoa. A superfície, lisa como um espelho, estilhaçava-se na sua esteira. Entrei também na água e senti o frio. Por qualquer razão, esperava que a água estivesse à mesma temperatura que o ar. Estava tanto calor no meio das árvores que se via vapor. Mas a água estava fria. Dei um mergulho rápido e apressei-me a sair.
O meu pai nadava à volta da lagoa, com braçadas poderosas e batimentos de pés que criavam cascatas de água gélida. E cantava. Não me lembro do que cantava, mas era mais um brado de prazer, uma catarata espumante de água negra que se metamorfoseava no canto obstinado do meu pai.
Sentado no carro, com Harriet ao meu lado, ocorreu-me que não havia nada na minha vida que recordasse com pormenores tão vívidos como essa ida à lagoa com o meu pai. Embora já lá fossem cinquenta e cinco anos, via toda a minha vida resumida naquela imagem: o meu pai a nadar sozinho e nu na lagoa da floresta. Eu, de pé entre as árvores, igualmente nu, a observá-lo. Duas pessoas cujo lugar era juntas, mas que já eram muito diferentes.
A vida é assim: uma pessoa nada, outra observa.
Comecei a reavaliar o regresso à lagoa. Agora era mais do que apenas uma questão de cumprir a promessa feita a Harriet. Também teria o prazer de voltar a ver algo que nunca pensara reencontrar.
Viajávamos por uma paisagem invernosa encantada.
Um nevoeiro gelado pairava sobre os campos brancos. Das chaminés elevavam-se penachos de fumo. Pequenos sincelos pendiam dos milhares de pratos de antenas parabólicas que apontavam os seus olhos metálicos a satélites distantes.
Ao fim de algumas horas, parei numa bomba de gasolina. Precisava de atestar o líquido do limpa-para-brisas e também tínhamos de comer. Harriet encaminhou-se para o bar de grelhados anexo à bomba. Reparei no cuidado com que ela se deslocava, um passo doloroso de cada vez. Quando lá cheguei, ela já se sentara e começara
59
a comer. O prato do dia era salsicha fumada. Pedi um filete de peixe do menu principal. Harriet e eu éramos praticamente os únicos clientes. Um motorista de
camião, sentado numa mesa de canto, dormitava sobre uma chávena de café. Pelo logótipo que tinha pregado ao casaco, vi que o seu trabalho era "Manter a Suécia a Andar".
Que estaremos nós a fazer?, perguntei para comigo. Harriet e eu, na nossa viagem rumo ao norte? Estaremos a manter o nosso país a andar? Ou seríamos periféricos, desprovidos de significado?
Harriet mastigava a sua salsicha fumada. Estudei as suas mãos enrugadas e pensei em como aquelas mãos tinham acariciado o meu corpo, noutros tempos, e me tinham preenchido com uma sensação de bem-estar que raramente voltara a encontrar em fases posteriores da vida.
O motorista de camião levantou-se e saiu do café.
Uma rapariga com o rosto muito maquilhado e um avental sujo serviu-me o peixe. Algures ao fundo ouvia-se o som fraco de um rádio. Consegui perceber que se tratava do noticiário, mas não fazia a menor ideia do que estava a ser dito. Quando era mais novo, era o tipo de pessoa que está sempre ansiosa por saber as últimas notícias. Lia, ouvia, via. O mundo exigia a minha presença. Um dia duas rapariguinhas afogavam-se no canal de Gota, no dia seguinte um presidente era assassinado. Eu tinha sempre de saber. No decurso dos meus anos de crescente isolamento na ilha dos meus avós, esse hábito fora desaparecendo progressivamente. Nunca lia os jornais e só via os noticiários da televisão dia sim, dia não, no máximo.
Harriet deixou a maior parte da comida no prato, intacta. Fui buscar-lhe um café. Flocos de neve começaram a esvoaçar do outro lado da janela. O café continuava vazio. Harriet pegou no andarilho e desapareceu nos lavabos. Quando regressou, tinha os olhos vidrados. Isso preocupou-me, sem que pudesse explicar porquê. Não podia censurá-la por tentar amortecer a dor. Nem podia propriamente assumir a responsabilidade pelo seu hábito de beber às escondidas.
Foi como se Harriet me tivesse lido os pensamentos. Perguntou-me subitamente em que estava a pensar.
60
- Em Roma - repliquei, evasivamente. Não sei porquê. A certa altura assisti a um congresso para cirurgiões em Roma, que fora esgotante e mal organizado. Nos dois últimos dias resolvi baldar-me e ir explorar a Villa Borghese. Deixei o grande hotel de cinco estrelas onde os delegados do congresso estavam alojados e fui para a pousada de Dinesen, de que Karen Blixen fora hóspede regular. Parti de Roma convencido de que nunca lá regressaria.
- É tudo?
- É tudo. Não estava a pensar em mais nada.
Mas não era verdade. De facto, tinha voltado a Roma dois anos depois. Dera-se a grande catástrofe e eu fugira de Estocolmo num frenesim, em busca de paz e sossego. Lembro-me de me precipitar para o aeroporto de Arlanda, sem bilhete. Os voos mais próximos para o sul da Europa eram para Madrid e Roma. Escolhi Roma porque a viagem era mais rápida.
Passei uma semana a vaguear pelas ruas, com o cérebro cheio da grande injustiça que desabara sobre mim. Bebi muitíssimo, meti-me ocasionalmente com más companhias e fui assaltado na última noite. Regressei à Suécia gravemente espancado, com um nariz que lembrava um bolo ensanguentado. Um médico do hospital endireitou-o e deu-me analgésicos. A partir daí, Roma tornou-se no último lugar da Terra que eu desejaria visitar.
- Estive em Roma - disse Harriet. - Toda a minha vida girou à volta de sapatos. O que julgava ser mera coincidência, quando era nova, trabalhar numa sapataria porque o meu pai fora capataz da Oscaria em Õrebro, revelou-se uma coisa que viria a afetar a totalidade da minha vida. Tudo o que fiz, na verdade, foi levantar-me, dia após dia, e pensar em sapatos. Uma vez fui a Roma e passei lá um mês como aprendiz de um velho mestre artesão, que fazia sapatos para os pés mais ricos do mundo. Dedicava tanto cuidado a cada par como Stradivarius aos seus violinos. Acreditava que os pés tinham personalidade própria. Uma cantora de ópera (já não me lembro do nome dela) tinha pés rancorosos, que nunca levavam os sapatos a sério e não lhes tinham qualquer respeito. Por outro lado, um homem de negócios húngaro tinha pés que manifestavam
61
ternura para com os sapatos. Aprendi algo com esse velho, tanto acerca de sapatos, como acerca de arte. Vender sapatos nunca mais foi a mesma coisa depois disso.
Partimos de novo.
Tinha começado a pensar onde iríamos passar a noite. Ainda não estava escuro, mas preferia não conduzir com má luz. A minha vista deteriorara-se nos últimos anos.
A uniformidade da paisagem de inverno dava-lhe uma beleza especial. Viajávamos através de uma região onde não acontecia praticamente nada. No entanto, ao passarmos pelo cume de uma colina ambos reparámos num cão, sentado à beira da estrada. Travei, não fosse o animal saltar de repente para a frente do carro. Quando passámos por ele, Harriet notou que tinha coleira. Pelo retrovisor, vi que o bicho se pusera a seguir o carro. Abrandei de novo e ele apanhou-nos.
- Vem a seguir-nos - comentei.
- Acho que foi abandonado.
- Porque pensas isso?
- Os cães que perseguem os carros costumam ladrar. Mas este não está a ladrar.
Harriet tinha razão. Parei na berma. O cão sentou-se, com a língua de fora. Estendi-lhe a mão e ele não se mexeu. Tirei-lhe a coleira e vi que tinha um disco com um número de telefone. Harriet pegou no seu telemóvel e marcou o número. Depois estendeu-me o aparelho. Ninguém atendeu.
- Não está lá ninguém.
- Se arrancarmos, o cão é capaz de correr atrás de nós até cair morto.
Harriet pegou de novo no telemóvel e ligou para as informações.
- O número pertence a uma Sara Larsson, que vive na Quinta de Hõgtunet, em Rõdjebyn. Tens um mapa?
- A escala não é suficientemente grande.
- Não podemos deixar o cão na estrada.
Apeei-me e abri a porta de trás. O cão saltou imediatamente para dentro do carro e enroscou-se. Um cão solitário, pensei para comigo. Não era diferente de uma pessoa solitária.
62
Oito ou nove quilómetros mais adiante chegámos a uma pequena aldeia, com uma loja. Entrei e perguntei pela Quinta Hõgtunet. O empregado de balcão era jovem e usava um boné de basebol com a pala para a nuca. Desenhou-me um mapa.
- Encontrámos um cão - expliquei.
- A Sara Larsson tem um spaniel - disse ele. - Talvez tenha fugido?
Voltei para o carro, entreguei a Harriet o mapa desenhado à mão e retrocedi pelo caminho de onde viéramos. O cão permaneceu enroscado no banco de trás. Mas percebi que estava alerta. Harriet guiou-me para uma estrada secundária, oculta entre bancos de neve esculpidos pelo limpa-neves. Entrar naquele corredor branco era desconcertante, fazia-nos perder o sentido de orientação. A estrada serpenteava entre abetos, cujos ramos vergavam sob o peso da neve. Embora a estrada tivesse sido limpa, nada passara por lá desde o último nevão.
- Olha! Rastos de animal na neve - disse Harriet. - Vão na direção da estrada principal.
O cão sentara-se no banco de trás, com as orelhas espetadas, os olhos fitos no para-brisas. Não parava de tremer, talvez de frio. Passámos por uma velha ponte de pedra. Uma cerca de madeira decrépita erguia-se ao lado da estrada. A floresta tornou-se menos densa. Num outeiro mais à frente havia uma casa que não via pintura há muitos anos. Havia também um telheiro e um celeiro parcialmente ruído. Parei e deixei sair o cão. Este correu para a porta da frente, arranhou-a, depois sentou-se e esperou. Reparei que não saía fumo da chaminé e que a luz exterior, sobre a porta da frente, não estava acesa. Não gostei do que via.
- É como um quadro - observou Harriet - deixado pelo pintor no cavalete da natureza.
Saí do carro e peguei no andarilho. Harriet abanou a cabeça e ficou onde estava. Parei defronte da casa, à escuta. O cão continuava sentado, imóvel, a olhar para
a porta. Um arado velho e ferrugento sobressaía da camada de neve, como os restos de um navio naufragado. Tudo parecia abandonado. Não vi quaisquer rastos na neve, tirando os deixados pelo cão. Cada vez me sentia mais inquieto. Aproximei-me da casa e bati à porta. O cão pôs-se em pé.
63
- Quem vai abrir? - sussurrei. - De quem estás à espera? Porque estavas sentado na estrada principal?
Bati outra vez, depois experimentei a maçaneta. A porta não estava fechada à chave. O cão passou entre as minhas pernas. Lá dentro havia um cheiro abafadiço; não por falta de arejamento, mas como se o tempo tivesse parado e começado a emitir um odor a ruína. O cão correra para onde me parecia ficar a cozinha e não regressara. Chamei, mas não obtive resposta. À esquerda havia uma sala com mobiliário antiquado e um relógio cujo pêndulo baloiçava silenciosamente por trás do vidro. A direita ficava uma escada que conduzia ao andar de cima. Fui para onde o cão fora e parei abruptamente à porta.
Uma mulher de idade jazia de bruços no linóleo cinzento que cobria o chão. Era evidente que estava morta. No entanto, fiz o que se deve fazer em tais circunstâncias: ajoelhei-me e procurei algum sinal de pulsação no pescoço, no pulso e na têmpora. Não era verdadeiramente necessário, pois o corpo estava frio e o rigor mortis já se instalara. Presumi que se tratava de Sara Larsson. Estava frio na cozinha, pois uma das janelas encontrava-se entreaberta. Não havia dúvidas acerca do caminho que o cão tomara para sair e tentar ir buscar ajuda. Pus-me em pé e olhei em redor. A cozinha estava limpa e arrumada. Tudo indicava que Sara Larsson morrera de causas naturais. O seu coração deixara de bater; talvez um vaso sanguíneo tivesse rebentado no seu cérebro. Calculei que teria entre oitenta a noventa anos. Tinha o cabelo branco e espesso apanhado num carrapito atrás da cabeça. Virei cuidadosamente o corpo. O cão observava todos os meus gestos com grande interesse. Quando o corpo ficou deitado de costas, o cão foi cheirar-lhe o rosto. Dava-me a impressão de estar a ver um quadro diferente daquele que Harriet vira. Estava a olhar para uma imagem de solidão indescritível. A mulher morta tinha um rosto bonito. Há um tipo especial de beleza, que só se revela nos rostos de mulheres verdadeiramente velhas. A sua pele enrugada contém todas as marcas e recordações gravadas por uma vida passada. Mulheres velhas, cujos corpos a terra anseia por abraçar.
Lembrei-me do meu pai, já velho, pouco antes de morrer. Tinha um cancro que se disseminara por todo o seu corpo. No chão, junto
64
ao seu leito de morte, estava um par de sapatos imaculadamente engraxados. Mas ele não dizia nada. Tinha tanto medo da morte que ficara aturdido. E mirrara a ponto
de ficar irreconhecível. A terra também ansiava por o abraçar.
Fui ter com Harriet, que saíra do carro e se apoiava ao andarilho. Acompanhou-me até à casa, agarrando-se ao meu braço com força ao subir os degraus. O cão continuava sentado na cozinha.
- Está deitada no chão - expliquei. - Está morta e rígida, e tem a cara amarela. Não precisas de a ver.
- Não tenho medo da morte. O que acho horrível é o facto de ter de ficar morta tanto tempo.
Ter de ficar morta tanto tempo.
Mais tarde lembrar-me-ia daquelas palavras, ditas por Harriet naquele corredor escuro imediatamente antes de entrarmos na cozinha onde a velha jazia no chão.
Ficámos parados, em silêncio. Depois passei uma busca à casa, procurando algum sinal de um parente que pudesse contactar. Noutros tempos houvera um homem naquela
casa, isso era evidente pelas fotografias penduradas nas paredes. Mas agora ela estava sozinha com o cão. Quando desci de novo, Harriet pusera um lenço sobre o rosto
de Sara Larsson. Tivera grande dificuldade em baixar-se. O cão fora deitar-se no seu cesto e observava-nos atentamente.
Telefonei à polícia. Demorei um bocado a explicar exatamente onde me encontrava.
Saímos para esperar no alpendre, ambos deprimidos. Não dissemos nada, mas notei que tentávamos manter-nos tão perto um do outro quanto possível. Depois vimos os feixes de luz de um par de faróis a cortar a floresta e um carro da polícia parou à porta. Os agentes eram muito jovens. Um deles, uma mulher de cabelo comprido e louro, preso num rabo de cavalo sob o boné, parecia não ter mais de vinte ou vinte e um anos. Chamavam-se Anna e Evert. Entraram na cozinha. Harriet ficou no alpendre, mas eu segui-os.
- Que vai acontecer ao cão? - perguntei.
- Levamo-lo connosco.
- E depois que acontece?
65
- Suponho que terá de dormir nas celas, com os bêbedos, até determinarmos se há algum parente ou outra pessoa que possa tomar conta dele. Caso contrário, terá de ir para um canil. Na pior das hipóteses, será abatido.
Dos rádios presos aos seus cintos vinha um contínuo ruído crepitante. A jovem mulher-polícia tomou nota do meu nome e número de telefone.
Disse que não havia necessidade de ali ficarmos mais tempo. Agachei-me diante do cesto e fiz uma festa na cabeça do spaniel. Era uma cadela. Teria nome? Que seria dela agora?
Pusemo-nos a caminho pela estrada. Anoitecia. Os faróis iluminavam placas com nomes que não nos eram familiares.
Tudo é silencioso quando se viaja num carro por uma paisagem de inverno. O verão e a primavera nunca são silenciosos. Mas o inverno é mudo.
Chegámos a um cruzamento. Parei. Precisávamos de um sítio onde pernoitar; uma placa indicava a Pousada Foxholes, a oito quilómetros de distância.
A pousada veio a revelar-se um edifício tipo mansão, com duas alas, situado no meio de vastos terrenos. Havia uma grande quantidade de carros estacionados junto do edifício principal.
Deixei Harriet no carro e dirigi-me para o átrio brilhantemente iluminado, onde um velhote, que dava a impressão de estar noutro mundo, tocava um velho piano. Voltou à terra quando me ouviu entrar e levantou-se. Perguntei-lhe se tinha quartos livres para a noite.
- Estamos lotados - replicou ele. - Temos um grande grupo, que veio festejar o regresso de um familiar da América.
- Não tem nenhum quarto? Ele estudou o registo.
- Temos um.
- Preciso de dois.
- Temos um quarto grande, duplo, com vista do lago. No primeiro piso, muito sossegado. Estava reservado, mas um dos membros do grupo grande adoeceu. É o único quarto
que temos disponível.
66
- Tem cama de casal ou duas camas?
- Uma cama de casal muito confortável. Nunca ninguém se queixou de ter dificuldade em dormir lá. Um dos velhos príncipes da Suécia, que entretanto já morreu, dormiu
nessa cama muitas vezes, sem problemas. Embora seja monárquico, tenho de reconhecer que os hóspedes da realeza às vezes são muito exigentes.
- Não se pode separar a cama?
- Só serrando-a ao meio.
Fui ter com Harriet e expliquei-lhe a situação. Um quarto, uma cama de casal. Se ela quisesse, podíamos continuar e procurar alojamento noutro sítio.
- Servem refeições? - inquiriu Harriet. - Posso dormir em qualquer lado.
Regressei ao átrio. Reconheci a melodia que o homem do piano estava a tocar, algo que fora popular na minha juventude. Harriet saberia certamente como a canção se chamava.
Perguntei se serviam refeições à noite.
- Temos um jantar com prova de vinhos que posso recomendar com toda a confiança.
- É tudo?
- Não é suficiente?
A sua resposta transbordava reprovação.
- Ficaremos com o quarto - declarei. - Ficaremos com o quarto e esperamos com prazer o jantar com prova de vinhos.
Saí de novo e ajudei Harriet a apear-se. Compreendi que ainda tinha dores. Caminhámos lentamente através da neve, subimos a rampa para cadeiras de rodas e penetrámos no calor do átrio. O homem estava novamente ao piano.
- "Non ho l"età" - disse Harriet. - Costumávamos dançar esta música. Lembras-te de quem a cantava? Gigliola Cinquetti. Ganhou o Festival da Eurovisão em 1963 ou
1964.
Lembrava-me. Ou, pelo menos, julgava que sim. Ao fim de tantos anos de solidão na ilha dos meus avós, já não confiava na minha memória.
- Depois faço o registo - decidi. - Primeiro vamos dar uma vista de olhos ao nosso quarto.
67
O homem pegou numa chave e escoltou-nos ao longo de um comprido corredor que conduzia a uma única porta, em cuja madeira escura se via um número embutido. íamos ocupar o quarto número três. O rececionista abriu a porta e acendeu a luz. Era um quarto amplo, muito bonito. Mas a cama de casal era mais pequena do que eu esperava.
- A sala de jantar fecha daqui a uma hora.
Deixou-nos. Harriet desabou em cima da cama. De súbito, toda a situação me pareceu totalmente irreal. Em que me teria metido? Iria partilhar uma cama com Harriet ao fim de tantos anos? Porque teria ela aceitado entrar naquilo?
- Posso arranjar um sofá para dormir - sugeri.
- Não me faz diferença - retorquiu Harriet. - Nunca tive medo de ti. Tiveste medo de mim? Medo que te espetasse um machado no crânio enquanto dormisses? Preciso de ficar um bocadinho sozinha. Gostaria de comer daqui a meia hora. E não tens que te preocupar; posso pagar a minha parte.
Fui ter com o pianista e assinei o registo. Da sala de jantar, fechada com uma porta de correr, vinha o zumbido da conversa do grupo que dava as boas-vindas ao familiar regressado da América. Dirigi-me para um dos salões e sentei-me, à espera. Fora um longo dia. Sentia-me agitado. Na ilha, os dias passavam devagar. Agora tinha a sensação de estar a ser atacado e sentia-me indefeso.
Pela porta aberta, vi Harriet emergir do corredor, com o seu andarilho. Dava a impressão de estar ao leme de uma embarcação estranha. Os seus movimentos eram inseguros. Teria estado outra vez a beber? Fomos para a sala de jantar. A maior parte das mesas estavam vazias. Uma empregada simpática, com a perna inchada e envolta em ligaduras, deu-nos uma mesa de canto. Tal como o meu pai me ensinara, verifiquei se a empregada usava sapatos decentes. Usava, embora precisassem de uma engraxadela. Ao contrário do que acontecera à hora de almoço, Harriet tinha fome. Eu não. Mas compensei bebendo gulosamente o vinho servido por um jovem magro, de rosto sardento. Harriet fez perguntas acerca dos vinhos, mas eu não disse nada, limitei-me a beber o que quer
68
que me pusessem à frente. Eram sobretudo vinhos australianos, e alguns sul-africanos. Mas que mal tinha isso? Tudo o que queria, era ficar tocado.
Brindámos um ao outro e reparei que Harriet ficou bastante embriagada quase imediatamente. Eu não era o único que estava a beber demasiado. Quando fora a última vez em que bebera a ponto de ter dificuldade em controlar os meus movimentos? Ocasionalmente, quando a depressão me vencia, sentava-me à mesa da cozinha e bebia até ficar embrutecido, depois expulsava o cão e a gata e caía na cama, completamente vestido. Mas isso raramente acontecia no inverno. Talvez numa noite luminosa de primavera ou do princípio do outono me desse um ataque de angústia existencial e eu fosse buscar as garrafas.
A sala de jantar fechou. Fomos os últimos a sair. Tínhamos comido e bebido e, como que por acordo tácito, nada disséramos acerca da nossa vida, nem de para onde íamos. Até Sara Larsson e o seu cão foram evitados. Mandei pôr o preço da refeição na conta do quarto, apesar dos protestos de Harriet. Depois saímos, a cambalear. De um modo ou de outro, Harriet parecia capaz de avançar controladamente com o seu andarilho; não faço ideia como. Abri a porta do nosso quarto e disse que ia dar um passeio antes de me deitar. Não era verdade, bem entendido. Mas não queria embaraçar Harriet com a minha presença enquanto ela se metia na cama. Suponho que estava igualmente interessado em não me embaraçar a mim.
Sentei-me numa sala de leitura. Estava forrada de estantes com velhos livros e revistas. O homem do piano desaparecera e o grupo grande dispersara. O sono veio sem aviso, como se me tivesse armado uma emboscada. Quando acordei, não sabia onde estava. O relógio mostrava-me que tinha dormido quase uma hora. Levantei-me, cambaleando ligeiramente em resultado do vinho que bebera, e voltei para o nosso quarto. Harriet estava a dormir. Tinha deixado a luz acesa no meu lado da cama. Despi-me em silêncio, lavei-me na casa de banho e deslizei para a cama. Escutei a sua respiração, tentando perceber se estava realmente adormecida ou
69
apenas a fingir. Estava deitada de lado. Senti-me tentado a afagar-lhe as costas. Usava uma camisa de noite azul-clara. Apaguei a luz e fiquei a ouvir a sua respiração no escuro. Sentia-me muito inseguro por dentro. E havia outra coisa que me faltava há muito. O sentimento de não estar só. Tão simples como isso. A solidão fora banida, apenas por um momento.
Devo ter adormecido. Acordei com Harriet aos gritos. Meio a dormir, consegui acender a luz da mesa de cabeceira. Ela estava sentada na cama, muito direita, a gritar de desespero e dor. Quando tentei tocar-lhe no ombro, bateu-me. Com força, em cheio no rosto.
O meu nariz esguichou sangue.
Não dormimos mais nessa noite.
70
CAPÍTULO 7
A madrugada ergueu-se sobre o lago branco como fumo negro.
Estava à janela, a pensar em como me lembrara de ver o meu pai fazer o mesmo. Não sou tão gordo como ele era, embora tenha adquirido um pouco de barriga. Mas quem poderia ver-me? Apenas Harriet, que ajeitara a almofada na qual se recostava.
Podia dizer-se que eu era um homem seminu numa paisagem de inverno.
Pensei em ir até ao lago gelado e criar o meu buraco no gelo. Tinha saudades da dor inerente à exposição à água gelada. Mas sabia que não o faria. Ficaria no nosso quarto, com Harriet. Vestir-nos-íamos, tomaríamos o pequeno-almoço e seguiríamos viagem.
Estava intrigado pelo sonho de Harriet, que a acordara aos gritos. O que ela contara parecia extremamente confuso. Só conseguia recordar fragmentos. Alguém a pregara ao chão e queria desfazê-la em pedaços porque ela se recusara a desistir do seu corpo. Ela resistira: estava numa sala, ou talvez fosse na rua, rodeada de pessoas cujos rostos não reconhecia. As vozes eram como gritos de aves ameaçadoras.
Fora nessa altura que acordara. Quando eu tentara acalmá-la, ou talvez acalmar-me a mim próprio, ela ainda se encontrava na terra de ninguém entre o sonho e a consciência, e defendera-se do que quer que a segurava. O soco que me dera era digno de um peso-pesado. O seu efeito lembrava-me a dor que tinha sentido quando fora espancado e assaltado em Roma.
Mas desta vez o meu nariz não ficara partido.
71
Enfiei papel higiénico nas narinas, embrulhei um lenço encharcado em água fria na parte de trás do pescoço e, passado um bocado, a hemorragia extinguiu-se. Harriet bateu à porta da casa de banho e perguntou se podia ajudar. Mas eu só queria que me deixassem em paz, portanto disse que não. Quando saí finalmente da casa de banho, com dois chumaços de papel no nariz, ela tinha-se metido outra vez na cama. Despira a camisa de noite e pendurara-a na cabeceira. Olhou-me nos olhos.
- Não queria bater-te.
- Claro que não. Estavas a sonhar.
Sentei-me numa das cadeiras, ao lado da grande janela com vista para o lago. Ainda estava escuro lá fora. Ouvi um cão a ladrar ao longe. Latidos individuais, como frases entrecortadas. Ou como a nossa maneira de falar quando ninguém está a ouvir.
Observei-a com atenção enquanto ela continuava a contar o seu sonho e pareceu-me que era igualzinha ao que fora no tempo em que eu a conhecera e amara. Perguntei-me o que me levaria a pensar assim. Acabei por compreender que era a sua voz, a qual não mudara absolutamente nada com os anos. Lembrei-me de lhe dizer muitas vezes que poderia sempre arranjar emprego como telefonista. Tinha a voz mais bonita, ao telefone, que eu jamais ouvira.
- Uma companhia da cavalaria inimiga estava escondida na floresta - disse ela. - De súbito, irromperam na clareira e atacaram, antes que eu tivesse tempo para me defender. Mas já passou tudo. Além disso, sei que certos pesadelos nunca se repetem. Perdem toda a sua força e deixam de existir.
- Sei que estás gravemente doente - disse eu.
Não tinha planeado dizer aquilo. As palavras jorraram-me simplesmente dos lábios. Harriet fitou-me, surpreendida.
- Havia uma carta na tua mala - expliquei. - Estava à procura de uma explicação para o facto de teres caído no gelo. Encontrei a carta e li-a.
- Porque não disseste que sabias?
- Tive vergonha de ter andado a remexer a tua mala. Ficaria furioso se alguém me fizesse uma coisa dessas.
72
- Sempre foste um bisbilhoteiro intrometido. Sempre foste assim.
- Isso não é verdade.
- É, sim. Nenhum de nós tem forças para continuar a mentir.
É um facto, não é?
Corei. Sempre remexi nas coisas dos outros. Cheguei a abrir cartas ao vapor e a colá-las de novo depois de as ter lido. A minha mãe tinha uma coleção de cartas, escritas na juventude, nas quais abria o coração a uma amiga. Pouco antes de morrer, atou-as com uma fita e pediu para serem queimadas. Eu assim fiz... mas li-as primeiro. Lia os diários das minhas namoradas e revistava-lhes as gavetas; cheguei mesmo a revolver as secretárias de outros médicos. E houve doentes cujas carteiras investiguei meticulosamente. Nunca roubei dinheiro algum. Procurava algo diferente. Segredos. Fraquezas humanas. Conhecimento de coisas que ninguém soubesse que eu sabia.
A única pessoa que me descobrira fora Harriet. Acontecera em casa da sua mãe. Tinham-me deixado só por alguns minutos e começara justamente a revistar a escrivaninha,
quando Harriet entrara na sala sem ruído e perguntara o que raio estava eu a fazer. Já tinha reparado que eu costumava passar-lhe revista à mala. Foi um dos momentos
mais embaraçosos da minha vida. Já não me lembro do que lhe disse. Nunca mais falámos acerca disso. Nunca mais -voltei a tocar nos seus pertences. Mas continuei
a remexer na vida de outros amigos e colegas. Agora ela recordara-me o tipo de pessoa que sou.
Harriet alisou os cobertores e fez sinal para me sentar ao seu lado. De súbito, a ideia de que ela estava nua por baixo dos lençóis excitou-me. Sentei-me e pousei-lhe a mão no braço. Havia um padrão formado por sinais junto ao seu ombro. Reconhecia-os a todos. Está tudo na mesma, pensei para comigo. Passou tanto tempo, mas ainda somos os mesmos que éramos no princípio.
- Não queria dizer-te - disse ela. - Podias julgar que era esse o motivo por que te procurei. Para encontrar ajuda onde não há ajuda possível.
- Nada é completamente desesperado.
73
- Nem tu, nem eu acreditamos em milagres. Se acontecerem, aconteceram. Mas acreditar neles, esperá-los... isso não é mais do que desperdiçar o tempo que nos é concedido.
"Posso viver mais um ano, ou podem ser apenas seis meses. Em qualquer dos casos, acho que posso sobreviver mais alguns meses com o auxílio deste andarilho e dos analgésicos. Mas não tentes dizer-me que nada é completamente desesperado.
- Estão constantemente a ser feitos progressos. Às vezes, acontecem coisas com uma rapidez espantosa.
Ela endireitou-se um pouco mais contra as almofadas.
- Acreditas mesmo no que estás a dizer?
Não respondi. Lembrei-me de que uma vez ela me dissera que a vida era como os sapatos. Não se podia esperar, ou imaginar, que os sapatos serviriam perfeitamente. Sapatos que apertam os pés eram um facto da vida.
- Quero pedir-te que faças uma coisa - disse ela e desatou a rir.
- Não podes tirar esses pedacinhos de papel das narinas?
- Só isso?
- Não.
Fui à casa de banho e retirei os pedaços de papel higiénico ensanguentados. A hemorragia parara. Doía-me o nariz; ficaria com uma equimose e um certo inchaço. Ainda ouvia o cão solitário a ladrar lastimosamente, algures lá fora.
Voltei para o quarto e sentei-me de novo na beira da cama.
- Quero que te deites ao meu lado. Nada mais do que isso.
Fiz o que ela pedia. O seu perfume era intenso. Sentia os contornos do seu corpo através do lençol. Deitei-me à sua esquerda. Era o que sempre fizera, no passado. Harriet estendeu a mão e apagou a luz da mesa de cabeceira. Eram entre quatro e cinco da manhã. A luz fraca de um candeeiro solitário, junto de uma fonte, no pátio, era coada pelas cortinas.
- Quero mesmo ver essa lagoa da floresta - disse ela.
- Nunca recebi um telefonema teu. Não creio que o tenha desejado. Mas contento-me com a lagoa. Quero vê-la antes de morrer.
- Não vais morrer.
74
- Claro que vou morrer. Todos chegamos a um ponto em que já não temos forças para negar o que vai acontecer. A morte é a única companheira constante que um ser humano pode ter nesta vida. Mesmo um louco geralmente sabe quando está na hora de partir.
Calou-se. As suas dores iam e vinham.
- Perguntei-me muitas vezes por que nunca tinhas dito nada - prosseguiu ela, passado um bocado. - Compreendo que tivesses encontrado outra pessoa, ou que não quisesses continuar. Mas porque não disseste nada?
- Não sei.
- Claro que sabes. Sempre soubeste o que estavas a fazer, mesmo quando afirmavas não saber. Porque te escondeste? Onde estavas enquanto eu esperava no aeroporto, para me despedir de ti? Estive lá horas e horas. Mesmo quando o único voo que ainda não tinha partido era um charter atrasado com destino a Tenerife, ainda lá estava. Depois pensei se não estarias escondido atrás de um pilar, algures, a ver-me. E a rir.
- Porque havia de rir? Já tinha partido. Ela refletiu por um instante antes de falar.
- Já tinhas partido?
- A mesma hora, o mesmo voo, na véspera.
- Então tinhas planeado tudo?
- Não sabia se ia apanhar o avião. Fui simplesmente ao aeroporto, para ver o que aconteceria. Um passageiro faltou e aproveitei o lugar.
- Não acredito em ti.
- E a verdade.
- Sei que não é. Não eras assim. Nunca fazias nada sem planear antecipadamente. Dizias que um cirurgião não podia deixar nada ao acaso. Dizias que eras um cirurgião da cabeça aos pés. Como podes esperar que acredite numa coisa que só pode ser mentira? Continuas igual ao que eras. Levas a vida a mentir. Só percebi isso demasiado tarde.
A sua voz adquirira um tom estridente. Começava a gritar. Tentei acalmá-la, fazê-la pensar nas pessoas que dormiam nos quartos ao lado do nosso.
- Não quero saber deles. Explica-me como pode uma pessoa comportar-se para com outra como tu fizeste comigo.
75
- Já disse que não sei.
- Fizeste algo de semelhante a outras? Apanhá-las na tua rede, depois deixá-las para sobreviverem como pudessem?
- Não compreendo do que estás a falar.
- Isso é tudo o que tens para dizer?
- Estou a tentar ser sincero.
- Estás a mentir. Não há uma palavra verdadeira naquilo que dizes. Como podes viver contigo próprio?
- Não tenho mais nada a dizer.
- Gostava de saber o que estás a pensar. De repente, espetou-me o dedo na testa.
- Que há aí dentro? Nada? Apenas trevas?
Deitou-se e virou-me as costas. Tive esperança de que tivesse acabado.
- Não tens mesmo nada a dizer? Nem sequer "desculpa"?
- Desculpa.
- Se não estivesse tão doente, batia-te. Nunca mais te deixaria em paz. Quase conseguiste destruir a minha vida. Só quero que digas algo que eu possa compreender.
Não respondi. Talvez me sentisse um pouco aliviado: as mentiras pesam-nos sempre, mesmo quando a princípio parecem não ter peso. Harriet puxou os cobertores até ao queixo.
- Tens frio? - perguntei, hesitante.
Ela respondeu num tom perfeitamente calmo:
- Tive frio a vida toda. Fui à procura de calor em desertos e países tropicais. Mas tinha sempre um pequeno sincelo dentro de mim. Todos têm a sua bagagem. Para uns é tristeza, para outros, preocupação. Para mim, foi sempre um sincelo. Para ti é um formigueiro na sala de estar de uma velha casa de pescador.
- Nunca uso essa sala. Não é aquecida no inverno e, no verão, limito-me a arejá-la. Tanto o meu avô como a minha avó morreram nessa sala. Assim que lá entro, ouço a respiração deles e deteto o seu cheiro. Um dia reparei que havia formigas na sala. Quando abri a porta, vários meses mais tarde, tinham começado a construir um ninho. Deixei-as à vontade.
Harriet virou-se.
76
- Que aconteceu? Não vou desistir. Não sei o que aconteceu na tua vida. Porque te mudaste para a ilha? Pelo que disse o homem que me levou lá, vives no recife há quase vinte anos.
- Jansson é um trapaceiro. Exagera tudo. Vivo lá há doze anos.
- Um médico que se reforma aos cinquenta e quatro anos?
- Não quero falar acerca disso. Aconteceu uma coisa.
- Podes contar-me.
- Não quero.
- Não tarda, estarei morta.
Virei-lhe as costas e pensei que nunca devia ter cedido. O que ela queria não era a lagoa da floresta, era eu.
Não conseguia pensar mais.
Ela aproximou-se e aconchegou-se a mim. O calor do seu corpo envolveu-me e encheu aquilo que havia muito parecia não ser mais do que uma concha sem sentido. Era sempre assim que nos deitávamos, quando dormíamos juntos. Levava-a às costas para o país do sono. Por um instante, imaginei que tínhamos estado sempre assim deitados, juntos, há quase quarenta anos. Um sono notável, do qual só agora começávamos a despertar.
- Que te aconteceu? Já podes contar-me - disse Harriet.
- Cometi um erro catastrófico numa operação. Depois argumentei que a culpa não era minha. Fui dado como culpado. Não em tribunal, mas pelo Conselho Nacional de Saúde e Previdência. Fui admoestado e não consegui lidar com isso. Agora não consigo dizer mais. Não me faças mais perguntas.
- Fala-me então da lagoa da floresta - sussurrou ela.
- É negra, dizem que não tem fundo, e não há margens. É um pequeno parente pobre desses lagos maravilhosos com águas convidativas. É difícil imaginar que existe
de todo e que não se trata apenas de uma gota da tinta da natureza que se derramou. Contei-te que vi o meu pai a nadar lá. Mas o que não te contei, foi que essa
experiência me fez compreender o que é a vida. As pessoas são chegadas umas às outras apenas para poderem ser separadas. E nada mais.
- Há peixes nessa lagoa?
77
- Não sei. Mas se há, devem ser completamente negros. Ou invisíveis, porque não se vê nada naquela água negra. Peixes negros, rãs negras, aranhas-de-água negras. E lá no fundo, se é que há fundo, uma enguia negra solitária, deslocando-se na lama com movimentos coleantes.
Ela comprimiu-se contra mim ainda com mais força. Pensei que estava a morrer, que o calor que irradiava em breve se transformaria num frio insidioso. Que dissera ela? Que tinha um sincelo dentro de si? Portanto, do ponto de vista dela, a morte era gelo, nada mais. Toda a gente apreendia a morte de modo diferente, a sombra que paira atrás de nós assume sempre uma forma diferente. Apeteceu-me virar-me para ela e abraçá-la com toda a minha força. Mas algo me impediu de o fazer. Talvez ainda tivesse medo do que quer que me fizera abandoná-la? Um sentimento de proximidade excessiva, algo com que não conseguia lidar?
Não sabia. Mas talvez agora quisesse saber, apesar de tudo.
Devo ter dormitado um pouco. Acordei quando Harriet se sentou na beira da cama. Para meu horror, vi-a cair de joelhos e começar a gatinhar para a porta da casa de banho. Estava completamente nua, os seios pesados, o corpo mais velho do que tinha imaginado. Não sei se ia de gatas para a casa de banho por estar demasiado cansada para caminhar, ou para não me acordar com o rangido das rodas do seu andarilho. Os olhos encheram-se-me de lágrimas; a sua imagem estava desfocada quando fechou a porta. Quando regressou, tinha conseguido pôr-se em pé e caminhar. Mas tinha as pernas a tremer. Aconchegou-se novamente a mim.
- Não estou a dormir - disse-lhe. -Já não sei o que se passa.
- Tiveste uma visita inesperada na tua ilha. Uma mulher velha, do teu passado, apareceu no gelo. Agora estás a cumprir uma velha promessa.
Senti um cheiro a álcool. Ela teria uma garrafa escondida entre os seus objetos de higiene?
- Os medicamentos não combinam bem com bebidas fortes - comentei.
- Se tiver de escolher, fico com o meu álcool.
78
- Andas a beber em segredo.
- Reparei que cheiravas o meu hálito, bem entendido. Mas gosto de beber em segredo, mesmo assim.
- Que andas a beber?
- Vulgar aquavit sueca. Tens de passar por uma loja de bebidas, amanhã. A reserva que trouxe comigo já está quase a acabar.
Ficámos deitados, à espera do amanhecer.
Harriet dormitava de vez em quando. O cão que ladrava lá fora, na noite, calara-se. Levantei-me de novo e pus-me à janela. Tive a sensação de me ter transformado no meu próprio pai. Naquele dia, na lagoa da floresta, tinha descoberto a sua solidão. Agora compreendia que essa solidão também era minha. Apesar do intervalo de cinquenta e cinco anos, tínhamo-nos fundido e transformado no mesmo indivíduo.
Isso assustava-me. Não queria aquilo.
Não queria ser um homem que tinha de mergulhar em água gelada todos os dias para confirmar que ainda estava vivo.
79
CAPÍTULO 8
Partimos da pousada antes das nove.
Lá fora estava um nevoeiro irregular, uma brisa ligeira e a temperatura andava pelos dois graus acima de zero. O pianista não voltara. Na receção encontrava-se uma jovem, que nos perguntou se tínhamos dormido bem e se estávamos satisfeitos com a nossa estadia. Harriet, apoiada ao seu andarilho a uns dois metros de mim, respondeu:
- Dormimos muito bem. A cama era larga e confortável. Paguei e perguntei à rececionista se tinha um mapa regional.
Ela desapareceu por alguns minutos e regressou sobraçando um volumoso atlas.
- Pode levá-lo de graça - declarou. - Um hóspede de Lund, que passou aqui uma noite há algumas semanas, deixou-o cá ficar.
Metemo-nos no carro e arrancámos direitos ao nevoeiro.
Avançávamos devagar. O nevoeiro era denso, a estrada desaparecera. Pensei em todas as ocasiões nas quais tinha remado através de bancos de nevoeiro no meu barco. Quando a neblina chegava vinda do mar, gostava de me apoiar aos remos e de me deixar engolir pela brancura. Para mim sempre representara uma estranha mistura de segurança e ameaça. Por vezes, a minha avó sentava-se no banco, debaixo da macieira, e contava histórias acerca de pessoas que tinham remado para o nevoeiro e desaparecido. Afirmava que havia uma espécie de buraco no meio das brumas, para o qual as pessoas podiam ser sugadas para nunca mais serem vistas.
80
Aqui e ali víamos um par de faróis de nevoeiro a aproximar-se, captávamos um vislumbre de um carro ou camião, depois ficávamos outra vez sozinhos.
Havia uma loja de bebidas alcoólicas de monopólio estatal numa das vilas que atravessámos. Comprei o que Harriet queria. Ela fez questão de pagar. Vodca, aquavit
e brandy, em meias garrafas.
O nevoeiro começara a levantar aos poucos. Senti que havia neve no ar.
Ainda não tinha ligado o motor e já Harriet emborcava um trago de uma das garrafas. Não lhe disse nada, pois não havia nada a dizer.
Então, de súbito, lembrei-me.
Aftonlöten. Lembrei-me do nome da montanha que ficava perto da lagoa da floresta onde vira o meu pai a nadar como uma morsa feliz.
Aftonlöten.
Lembro-me de lhe ter perguntado o que o nome significava. Ele não sabia. Ou, pelo menos, não respondeu.
Aftonlöten. Evocava pastagens ao cair da noite e parecia uma palavra saída das canções tradicionais que as pastoras cantavam enquanto traziam os seus rebanhos para os apriscos, à noite. Era uma montanha pequena e insignificante, que mal chegava aos trezentos metros de altitude, entre Ytterhögdal, Linsjön e Älvros.
Aftonlõten. Não disse nada a Harriet, pois ainda não tinha a certeza de ser capaz de encontrar o caminho para a lagoa.
Perguntei-lhe como se sentia. Percorremos quase cinco quilómetros antes de ela responder. A taciturnidade e a distância estão ligadas. E mais fácil estar em silêncio quando se tem muito que andar.
Harriet disse que não tinha dores. Como a resposta era evidentemente falsa, não me dei ao trabalho de perguntar outra vez.
Parámos para comer quando nos aproximámos da fronteira de Hãrjedalen. Estava um carro solitário estacionado à porta do café. Havia no estabelecimento e no próprio lugar, no seu todo, algo que me provocava uma sensação de perplexidade, mas não consegui
81
perceber porquê. No café de madeira tosca ardia um lume vivo e no ar pairava um aroma a sumo de murtinho. Lembrava-me desse cheiro, da minha infância. Julgava que o sumo de murtinho estava tão ultrapassado que já quase não existia. Mas ali serviam-no.
Sentámo-nos numa das muitas mesas vazias e contemplámos as paredes forradas de madeira e decoradas com hastes de alce e aves empalhadas. Havia um crânio numa prateleira. Não resisti à tentação e fui investigar. Demorei um bocado a perceber que se tratava de um crânio de urso. A empregada, que nos recitara o menu, apareceu nesse momento e viu-me com o crânio na mão.
- O bicho estendeu-se no chão e morreu - explicou. - O meu marido queria que eu dissesse a toda a gente que ele o tinha caçado. Mas agora que ele já não está connosco, posso dizer a verdade. Estendeu-se no chão e morreu. Estava na margem do Lago Risvat-tnet. Um urso velho, que se deitou simplesmente junto a uma pilha de toros e morreu.
Enquanto ela falava, dei-me subitamente conta de que já ali tinha estado. Quando fora à lagoa com o meu pai. Talvez tenha sido o sumo de murtinho que fez reviver essa memória distante. Tinha estado naquele mesmo café com o meu pai. Era muito novo na altura; tínhamos tomado uma refeição e eu bebera sumo de murtinho.
Aquelas aves empalhadas já estariam nas paredes nessa época, fitando os clientes famintos com os seus olhos de aço? Não me lembrava. Via com os olhos da memória o meu pai a limpar a boca ao guardanapo, a ver as horas e a instar-me para que me despachasse a acabar de comer. Ainda tínhamos muito que andar.
Havia um mapa na parede, por cima do lume. Estudei-o e encontrei Aftonlõten, o Lago Linsjõ e uma montanha de que me tinha esquecido.
Chamava-se Fnussjen.
Um nome impossível: devia ter sido uma piada. Com menos de duzentos e cinquenta metros de altitude, coberta de árvores, e alguém lhe atribuíra um nome disparatado. Em franco contraste com Aftonlöten, que parecia atraente e até significativo, de uma maneira antiquada.
82
Pedimos carne de vaca estufada. Acabei de comer antes de Harriet e fui sentar-me ao pé do lume enquanto esperava que ela terminasse.
Harriet teve alguma dificuldade em manobrar o seu andarilho sobre a soleira da porta, quando saímos. Tentei ajudá-la.
- Eu arranjo-me sozinha, obrigada.
Caminhámos lentamente sobre a neve até ao carro. Nunca tínhamos vivido juntos, mas apesar disso as pessoas com quem nos cruzávamos pareciam encarar-nos como um velho casal, abençoado com uma paciência infinita um para com o outro.
- Não tenho forças para fazer mais nada hoje - disse Harriet, quando nos instalámos no carro.
Tinha a testa coberta de suor em resultado do esforço a que fora sujeita; os olhos estavam semicerrados, como se estivesse prestes a adormecer. Está a morrer, pensei para comigo. Vai morrer aqui no carro. Sempre me perguntei quando morreria eu ao certo: na minha cama, na rua, numa loja, ou no pontão, à espera de Jansson? Mas nunca me imaginara a morrer num carro.
- Preciso de repouso - disse ela. - Nem quero pensar no que acontecerá se não descansar.
- Tens de me dizer o que consegues aguentar.
- É o que estou a fazer. Talvez amanhã seja o dia em que vamos à lagoa da floresta. Mas hoje não.
Encontrei uma pequena residencial na vila seguinte. Um edifício amarelo, por trás da igreja. Fomos recebidos por uma senhora simpática. Quando viu o andarilho de Harriet, deu-nos um quarto grande no piso térreo. Teria preferido um quarto só para mim, mas contive-me e não disse nada. Harriet deitou-se a descansar. Folheei uma pilha de revistas antigas, que estavam em cima de uma mesa, até que adormeci. Algumas horas depois, saí e fui comprar uma piza num café lúgubre, que vendia comida para fora e cujo único cliente era um velho que resmungava sozinho, com um galgo afundado aos pés.
Sentámo-nos na cama, a comer a piza. Harriet estava muito cansada. Assim que acabou de comer, deitou-se outra vez. Perguntei-lhe se queria falar, mas ela limitou-se
a abanar a cabeça.
83
Saí ao anoitecer e deambulei pela vila. Havia muitas lojas vazias, com detalhes de contacto nas montras, para quem estivesse interessado em arrendar as instalações.
Aqueles anúncios eram como gritos de socorro de uma pequena vila sueca em grandes dificuldades. A ilha dos meus avós fazia parte desse gigantesco arquipélago, abandonado e desnecessário, que forra as orlas da Suécia e que não inclui apenas as ilhas da nossa costa, mas também muitas aldeias e vilas do interior e das florestas. Nesta vila não havia pontões para se atracar e ir a terra, não havia hidrocópteros zangados a levantar um remoinho de neve quando se aproximavam com a sua carga de correio e publicidade. No entanto, vaguear por aquela povoação abandonada era como caminhar por um recife no limite do mar aberto. A luz azulada dos televisores derramava-se pelas vidraças e caía sobre a neve; por vezes, ouviam-se fragmentos de som, pedaços de programas diferentes que se escoavam pelas janelas. Pensei em solidão e em toda aquela gente que via programas diferentes. Todas as noites, pessoas de todas as gerações sumiam-se em mundos diferentes, transmitidos pelos satélites.
Dantes tínhamos os mesmos programas para alimentar as conversas. De que falariam as pessoas, hoje?
Parei diante do que fora outrora a estação de caminhos de ferro e ajustei melhor o meu cachecol em torno do pescoço. Estava frio e começava a levantar-se vento. Percorri o cais deserto. Uma única carruagem de carga erguia-se numa linha de serviço coberta de neve, como um touro abandonado no seu estábulo. À luz fraca de uma única lâmpada, tentei ler o velho horário, que ainda estava afixado na parede da estação, numa vitrina com o vidro partido. Consultei o relógio. Deveria estar a chegar um comboio vindo do sul. Esperei, pensando que já tinham acontecido coisas mais estranhas do que um comboio fantasma materializando-se da escuridão e acelerando para a ponte sobre o rio gelado.
Mas não veio comboio nenhum. Não veio nada. Se tivesse um pouco de feno comigo, tê-lo-ia deixado à frente da velha carruagem de carga. Retomei a minha caminhada. O céu límpido estava recamado de estrelas. Procurei algum sinal de movimento, talvez uma estrela cadente ou um satélite, talvez mesmo um sussurro
84
de um dos deuses que se presume viverem lá em cima. Mas nada aconteceu. O céu noturno permaneceu mudo. Fui até à ponte sobre o rio gelado. Um toro jazia no gelo. Um risco preto no meio de toda aquela brancura. Não conseguia lembrar-me do nome do rio. Parecia-me que era Ljusnan, mas não tinha a certeza.
Fiquei parado na ponte durante o que me pareceram séculos. De súbito, tive a sensação de que já não estava sozinho sob os grandes arcos de ferro. Havia lá outras pessoas; então dei-me conta de que estava de facto a ver-me a mim próprio. Em todas as idades, do rapazinho que corria de um lado para o outro e brincava na ilha dos avós, até ao eu que, muitos anos mais tarde, deixara Harriet e, por fim, ao homem que era hoje. Por um breve instante pude ver-me a mim mesmo, tal como fora e o homem em que me tornara.
Procurei, entre as figuras que me rodeavam, uma que fosse diferente, alguém em quem pudesse ter-me transformado, mas não havia nenhuma. Nem mesmo um homem que seguisse as pisadas do pai e trabalhasse como empregado de mesa em vários restaurantes.
Não faço ideia quanto tempo fiquei na ponte. Quando regressei à residencial, as aparições tinham desaparecido.
Estendi-me na cama, aconcheguei-me ao braço de Harriet e adormeci.
Sonhei que estava a subir à ponte de ferro a meio da noite. Estava empoleirado mesmo no cimo de um dos gigantescos arcos e sabia que, a qualquer momento, ia precipitar-me no gelo.
Nevava suavemente quando partimos em busca do caminho de madeireiros. Não me lembrava de quaisquer pontos de referência. Não havia nada na paisagem monótona que me estimulasse a memória. Mas sabia que estávamos perto. A lagoa ficava algures no meio do triângulo formado por Aftonlöten, Ytterhögdal e Fnussjen.
Harriet estava com muito melhor aspeto de manhã. Quando acordei, já estava lavada e vestida. Tomámos o pequeno-almoço numa pequena sala de jantar, onde éramos os únicos clientes. Harriet também sonhara nessa noite. Um sonho acerca de nós, de uma viagem que tínhamos feito a uma ilha no Lago Málaren. Não me recordava absolutamente nada desse passeio.
85
Mas fiz que sim com a cabeça quando Harriet me perguntou se me lembrava. Claro que sim. Lembrava-me de tudo o que nos acontecera.
A neve empilhava-se a grande altura de ambos os lados da estrada; havia poucos entroncamentos e a maior parte dos caminhos não fora limpa. Sem qualquer aviso, veio-me uma recordação da minha juventude. Caminhos de madeireiros. Ou talvez deva dizer emoções ligadas a caminhos de madeireiros.
Tinha passado um verão com um dos parentes do meu pai em Jämtland, no norte. A minha avó estava doente, pelo que não tinha podido passar o verão na ilha. Fiz amizade com um rapaz cujo pai era juiz distrital. Fomos visitar os arquivos do tribunal e, quando ninguém estava a ver, abrimos um maço de documentos que incluía registos de processos e inquéritos policiais. Ficámos fascinados pelos relatórios de casos de paternidade, com todos os detalhes surpreendentes, mas apaixonantes, do que se passava nos bancos de trás dos automóveis nas noites de sábado. Os carros estavam sempre estacionados em caminhos de madeireiros. Pareceu-nos que toda a gente tinha sido concebida no banco de trás de um automóvel. Devorámos as notas dos casos, os contrainterrogatórios de jovens rapazes arrastados perante os tribunais, que descreviam, num tom lacónico e relutante, o que tinha acontecido ou deixado de acontecer nos veículos estacionados em vários caminhos de madeireiros. Estava sempre a nevar, nunca havia verdades simples e diretas nas quais pudéssemos apoiar-nos, havia sempre dúvidas consideráveis na hora de decidir se o jovem rapaz estava a mentir para escapar de um aperto, ou se a igualmente jovem rapariga tinha razão em afirmar que fora ele e não qualquer outro, aquele banco traseiro e não qualquer outro, aquele caminho de madeireiros e não qualquer outro. Empanturrámo-nos de detalhes secretos e creio que até sermos confrontados com a realidade, muitos anos depois, sonhámos com a possibilidade de partilharmos um dia o banco traseiro de um automóvel, estacionado em caminhos de madeireiros cobertos de neve, com raparigas jovens e desejáveis.
A vida era isso. Aquilo por que ansiávamos tinha sempre lugar num caminho de madeireiros.
86
Sem saber bem porquê, comecei a falar disso a Harriet. Comecei a virar automaticamente em todas as estradas laterais por que passávamos.
- Não faço quaisquer tenções de te contar as minhas experiências em bancos traseiros de automóveis - declarou ela. - Não o fiz quando andava contigo e não o faço agora. Há sempre momentos humilhantes na vida de qualquer mulher. O que a maioria de nós acha pior, foi o que aconteceu quando éramos muito novas.
- Quando era médico, às vezes falava com os meus colegas acerca da quantidade de pessoas que não sabem quem é o seu verdadeiro pai. Uma série de jovens conseguiram safar-se com mentiras, outros assumiram uma responsabilidade que não lhes pertencia de facto. As próprias mães nem sempre sabiam quem era o pai.
- A única coisa de que me lembro dessas tentativas, distantes e vãs, de aventura erótica é que achava sempre que tinham um cheiro esquisito. E o rapaz que rastejava por cima de mim também tinha um cheiro curioso. Não me lembro de mais nada. O entusiasmo, a confusão e os cheiros estranhos.
De súbito, fomos confrontados por uma máquina de corte de árvores monstruosa, que rodava ruidosamente na nossa direção. Travei a fundo, derrapei e fui enfiar-me num monte de neve. O motorista do monstro apeou-se e empurrou enquanto eu fazia marcha-atrás. Após grande esforço, lá consegui sair da neve. Apeei-me. O homem tinha uma constituição robusta e manchas de tabaco de mascar à volta da boca. De um modo estranho, parecia uma reprodução da enorme máquina que conduzia, com as suas gruas e garras preênseis.
- "Tá perdido? - perguntou ele.
- Ando à procura de uma lagoa na floresta. O homem fitou-me de olhos semicerrados.
- Nes"es bosques?
- Sim, uma lagoa de floresta.
- Nã" tê nome?
- Não, não tem nome.
- Me"m"assim "tá à pr"cura? Há montes da lagoas p"r"aqui. É só esc"lher. Ond"acha qu"é a suia?
87
Era evidente que só um idiota andaria pela floresta no inverno, à procura de uma lagoa sem nome. Assim, expliquei-lhe a situação. Achei que pareceria tão improvável que só podia ser verdade.
- Prometi à senhora que está ali, no meu carro, que a veria. Está muito doente.
Percebi que ele hesitava antes de se resolver a acreditar em mim. Às vezes, a verdade é mais estranha que a ficção, disse para comigo.
- E"sso vai pô-la boa, é? Vê" a tal lagoa?
- Talvez.
Ele anuiu e refletiu um pouco.
- Há uma lagoa no fim dest" "strada de lama, será "ssa?
- Se bem me lembro, tinha uma forma circular, não era grande e as árvores chegavam mesmo até à beira da água.
- Hum, "tão pode ser essa. Nã" sê. O bosque "tá chêo da lagoas. Estendeu a mão e apresentou-se.
- Harald Svanbeck. Nã" se vê munta gente nest" "strada de lama nest"altura do ano. Q"ase nunca. Boa sorte. E a sua mãe, "li no carro?
- Não, não é minha mãe.
- Deve ser mãe d"alguém, heim? Tem da ser.
Trepou de novo para a cabina da sua monstruosa engenhoca, ligou o motor e seguiu o seu caminho.
- Que língua falava ele? - perguntou Harriet.
- A língua da floresta. Nesta zona, cada pessoa tem o seu próprio dialeto. Compreendem-se uns aos outros. Mas cada um fala a sua própria língua. Para eles, é o melhor. Nestas regiões, no limite da civilização, é fácil imaginar que cada homem e cada mulher é um membro único de uma raça individual. Uma nação individual, uma cepa individual com a sua história particular. Se estiverem completamente isolados, ninguém sentirá a falta da língua que morre com eles. Mas há sempre algo que sobrevive, claro.
Continuámos pelo caminho de madeireiros. A floresta era muito densa, a estrada começou a subir suavemente. Seria algo de que me recordava, de quando o meu pai me levou no seu velho Chevrolet azul-forte, do qual cuidava com tanto amor e carinho? Uma estrada que subia suavemente? Tinha a nítida impressão de que
88
estávamos no caminho certo. Passámos por uma pilha de toros acabados de cortar. A floresta fora violada pela enorme besta de que Harald Svanbeck se encarregava. Por essa altura, todas as distâncias pareciam intermináveis. Olhei para o retrovisor e a floresta parecia estar a cerrar-se atrás de nós. Tive a sensação de estar a recuar no tempo. Lembrei-me de caminhar entre as árvores na véspera à noite, da ponte, da floresta do meu passado. Talvez estivéssemos a caminho de uma lagoa estival, com o meu pai e eu impacientes por lá chegar?
Descrevemos uma série de curvas apertadas. A neve elevava-se a grande altura de ambos os lados da estrada.
Esta extinguiu-se aos poucos.
E ali estava ela, à minha frente, com a sua cobertura branca. Parei o carro e desliguei o motor. Estávamos lá. Não havia mais nada a dizer. Não tinha qualquer dúvida. Era a lagoa da floresta. Regressara lá, passados cinquenta e cinco anos.
A cobertura branca estendia-se para nos receber. Tive um súbito pressentimento de que Harriet fora fadada para me atrair para fora da minha ilha. Era um anjo mensageiro, mesmo que lá tivesse ido de sua livre vontade. Ou seria eu que a chamara? Teria esperado todos aqueles anos que ela voltasse?
Não sabia. Mas tínhamos chegado.
89
CAPÍTULO 9
Disse-lhe que era ali, que tínhamos chegado. Ela olhou longa e fixamente para a paisagem envolta em brancura.
- Então há água por baixo desta neve toda, é?
- Água negra. Está tudo adormecido. Todas as pequenas criaturas que vivem na água estão adormecidas. Mas é esta a lagoa que procurávamos.
Saímos do carro. Peguei no andarilho, que se afundou na neve. Fui buscar a pá à bagageira.
- Fica no carro; aí dentro está quente - aconselhei. - Vou ligar o motor. Depois abro um caminho para ti com a pá. Onde queres ir? Até à borda da água?
- Quero ir mesmo até ao meio do lago.
- Não é um lago, é uma lagoa.
Liguei o motor, ajudei Harriet a sentar-se de novo no carro e comecei a cavar. Havia mais de trinta centímetros de neve endurecida por baixo da camada superficial que parecia pó. Cravar a pá naquela neve gelada não era nada fácil. O esforço podia matar-me a qualquer momento.
Só de pensar nisso fiquei aterrado. Comecei a cavar mais devagar, tentei prestar atenção ao meu coração. Da última vez que fora ao médico, a minha tensão estava um pouco alta. Os restantes valores metabólicos estavam bem, mas um ataque cardíaco pode fulminar-nos sem razão aparente. Pode abater-se sobre nós vindo do nada, como se um bombista suicida desconhecido arrombasse uma das nossas câmaras cardíacas.
90
Não é invulgar um homem da minha idade morrer a cavar. Sofrem uma morte súbita e quase vergonhosa, com os dedos rígidos crispados no cabo de uma pá.
Precisei de muito tempo para cavar um caminho até ao centro da lagoa gelada. Quando finalmente lá cheguei, estava encharcado em suor e doíam-me os braços e as costas. O fumo do escape formava uma nuvem espessa atrás do carro. Mas ali, na lagoa coberta de gelo, nem sequer se ouvia o motor. Reinava um silêncio absoluto. Nem aves, nem qualquer movimento nas árvores emudecidas.
Desejei ter podido ver-me de longe. Escondido entre as árvores circundantes, um observador a escrutinar-se a si próprio.
Ao voltar para o carro, ocorreu-me que as coisas podiam estar quase a acabar.
Deixaria Harriet onde quer que ela quisesse que nos despedíssemos. Ainda não sabia mais do que o facto básico de que ela vivia algures em Estocolmo. Depois poderia regressar à minha ilha. Então tive uma ideia fascinante: enviaria um postal ilustrado a Jansson. Nunca me passara pela cabeça que um dia lhe escreveria. Mas agora precisava dele. Compraria um postal com uma imagem das florestas intermináveis, de preferência uma em que os ramos das árvores vergassem ao peso da neve. Desenharia uma cruz no meio das árvores e escreveria: "Estou aqui. Voltarei para casa em breve. Não se esqueça de alimentar os meus animais."
Harriet já saíra do carro. Estava de pé, apoiada ao andarilho. Caminhámos lado a lado pelo carreiro que eu cavara. Tive a sensação de que fazíamos parte de uma procissão que se dirigia a um altar.
O que estaria ela a pensar? Olhava em redor, em busca de um sinal de vida entre as árvores. Mas havia silêncio por toda a parte, tirando o ruído baixo do motor do carro.
- Sempre tive medo de andar no gelo - disse ela de repente.
- Apesar disso tiveste coragem para ir à minha ilha?
- Ter medo não significa que não tenha coragem para fazer coisas que me assustam.
- Esta lagoa não está gelada até ao fundo - disse eu. - Mas quase. O gelo tem mais de noventa centímetros de profundidade. Era capaz de aguentar o peso de um elefante, se fosse preciso.
91
Ela desatou às gargalhadas.
- Isso era digno de ser visto! Um elefante ali no gelo, para me acalmar! Um elefante sagrado, enviado para salvar as pessoas que têm medo do gelo fino!
Chegámos ao meio da lagoa.
- Acho que consigo vê-la na minha imaginação - disse Har-riet. - Quando não há gelo.
- Fica no seu melhor quando está a chover - observei. - Gostava de saber se há alguma coisa melhor do que um aguaceiro de verão na Suécia. Outros países podem ter edifícios majestosos, ou montanhas com picos vertiginosos e ravinas profundas. Nós temos a nossa chuva de verão.
- E o silêncio.
Não falámos durante um bocado. Tentei avaliar as implicações da nossa ida ali. Fora cumprida uma promessa, com muitos anos de atraso. Nada mais. A nossa jornada estava a chegar ao fim. Restava apenas o epílogo, uma longa viagem para sul por estradas geladas.
- Estiveste aqui depois de me teres abandonado? Estiveste aqui com outra pessoa?
- Nunca me ocorreu tal ideia.
- Por que me abandonaste?
A pergunta atingiu-me como um soco no plexo solar. Via-se que ela estava novamente enervada. Tinha as mãos crispadas no andarilho.
- A dor que me causaste fez-me passar pelo inferno - prosseguiu ela. - Fui obrigada a fazer um esforço imenso para te esquecer, mas nunca o consegui de facto. Agora que finalmente aqui estou, na tampa que cobre a tua lagoa da floresta, lamento ter-te localizado. Que bem julgava eu que faria? Já não sei. Vou morrer em breve. Para quê perder tempo a abrir velhas feridas? Por que estou aqui?
Devemos lá ter ficado um minuto, não mais. Em silêncio, evitando o olhar um do outro. Depois ela virou o andarilho e retrocedeu sobre os seus passos.
Estava algo caído na neve, uma coisa em que não reparara ao cavar o caminho para Harriet. Era preto. Semicerrei os olhos, mas
92
não consegui distinguir o que era. Um animal morto? Uma pedra? Harriet não reparou que eu tinha parado. Embrenhei-me na neve à beira do caminho e aproximei-me do objeto escuro.
Tinha obrigação de me aperceber do perigo. A minha experiência e o meu conhecimento do gelo e da sua imprevisibilidade deviam ter-me alertado. Porém, só compreendi demasiado tarde que a mancha escura era de facto o próprio gelo. Sabia que, por qualquer razão, um pequeno troço de gelo pode ser muito fino, apesar de estar rodeado de todos os lados por uma camada muito espessa. Mas era demasiado tarde, o gelo cedeu e eu caí. A água chegou-me ao queixo. Devia estar habituado ao choque súbito provocado pela entrada em água gelada, graças aos meus mergulhos de inverno. Mas aquilo era diferente. Não estava preparado, não tinha sido eu a criar o buraco no gelo. Gritei. Só quando gritei pela segunda vez é que Harriet se virou e me viu dentro de água. O frio já começara a paralisar-me, tinha uma sensação de queimadura no peito, inspirava desesperadamente ar gelado para os pulmões e procurava freneticamente terreno firme debaixo dos pés. Tentei agarrar-me às bordas do buraco, mas os meus dedos estavam demasiado rígidos.
Continuei a gritar, convencido de que estava cara a cara com a morte.
Sabia que Harriet era a última pessoa capaz de me ajudar. Mal se aguentava em pé sozinha.
Mas ela surpreendeu-me tanto como a si própria. Aproximou-se de mim com o seu andarilho, o mais depressa que podia. Deitou o andarilho no chão, depois estendeu-se ao comprido no gelo e empurrou-o para a borda do buraco, de maneira a que eu agarrasse uma das rodas. Nunca saberei como consegui içar-me dali para fora. Ela deve ter-me puxado e tentado rastejar para trás sobre a neve. Quando saí, cambaleei para o carro como pude. Ouvi-a chamar, atrás de mim, mas não fazia ideia do que ela estava a dizer; a única coisa que sabia, é que se parasse e caísse na neve, jamais teria forças para me erguer de novo. Não podia ter estado mais de dois minutos dentro de água, mas isso quase bastara para me matar. Não me lembro de como fui do buraco no gelo até ao carro. Não disse nada, provavelmente fechei os olhos para não ver a distância que me faltava percorrer. Quando finalmente
93
comprimi o rosto contra a mala do carro, só tinha um pensamento: despir as roupas ensopadas que tinha vestidas e enrolar-me no cobertor que estava no banco de trás. Não me lembro de como consegui fazê-lo. Envolvia-me um cheiro intenso a fumo de escape quando me libertei da última peça de roupa e abri a porta traseira, às cegas. Enrolei o cobertor à minha volta e perdi a consciência.
Quando acordei, ela abraçava-me e estava tão nua como eu.
Nas profundezas da minha consciência, o frio transformara-se numa sensação de queimadura. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que vi foi o cabelo e a nuca de Harriet. Recobrei a memória aos poucos.
Estava vivo. E Harriet despira-se e abraçava-me por baixo do cobertor, para me aquecer.
Ela reparou que eu tinha voltado a mim.
- Estás com frio? Podias ter morrido.
- O gelo abriu-se debaixo de mim.
- Pensei que era um animal. Nunca tinha ouvido um grito como aquele.
- Quanto tempo estive inconsciente?
- Uma hora.
- Assim tanto?
Fechei os olhos. O meu corpo ardia.
- Não queria ver a lagoa apenas para morreres lá dentro - disse ela.
Mas agora tudo passara. Dois velhotes, nus no banco de trás de um velho carro. Tínhamos falado dessas coisas, de jovens em bancos de carros. A fazer amor, e depois talvez a negar tê-lo feito. Mas nós os dois, cujas idades somadas totalizavam cento e trinta e cinco anos, limitámo-nos a agarrar-nos um ao outro, um porque sobrevivera,
a outra porque afinal não ficara sozinha nas profundezas da floresta.
Passada talvez outra hora, Harriet passou para o banco da frente e vestiu-se.
- Era mais fácil quando era mais nova - comentou. - Uma velha desajeitada, como eu, tem dificuldade em vestir-se num carro.
94
Foi buscar roupas secas para mim à mochila que estava na bagageira. Aqueceu-as antes de me deixar vesti-las, abrindo-as sobre o volante, onde o calor do motor era soprado para o interior do carro. Olhei pelo para-brisas e vi que tinha começado a nevar. Preocupava-me a possibilidade de a neve deslizar e barrar-nos o caminho para a estrada principal.
Vesti-me o mais depressa que pude, atrapalhando-me como se estivesse bêbedo.
Nevava com intensidade quando deixámos a lagoa da floresta. Mas o caminho de madeireiros ainda não estava intransitável.
Voltámos para a residencial. Desta vez, foi Harriet quem saiu com o seu andarilho, para ir buscar a piza que nos serviu de jantar.
Partilhámos uma das suas garrafas de brandy.
A última coisa que vi antes de adormecer foi o seu rosto.
Estava muito próximo. Talvez estivesse a sorrir. Espero que sim.
95
CAPÍTULO 10
Quando acordei, no dia seguinte, Harriet estava sentada com o atlas aberto à sua frente. Tinha a sensação de que o meu corpo fora sujeito a uma coça violenta. Ela perguntou como me sentia. Respondi que estava ótimo.
- Os juros - disse ela com um sorriso.
- Juros?
- Sobre a tua promessa. Passados tantos anos.
- Que queres pedir-me?
- Um desvio.
Apontou para o sítio onde estávamos, no mapa. Em vez de deslocar o dedo para o sul, deslocou-o para leste, em direção à costa e à província de Halsingland. Parou a pouca distância de Hudiksvall.
- Por aqui.
- E que te espera aí?
- A minha filha. Quero que a conheças. Será um dia a mais, talvez dois.
- Porque vive ela aí?
- Porque vives na tua ilha?
Escusado será dizer que fiz o que ela pedira. Rumámos à costa. A paisagem manteve-se exatamente igual do princípio ao fim do caminho: casas isoladas, com as suas
antenas parabólicas, e nenhum sinal de gente.
Ao fim da tarde, Harriet declarou que estava demasiado cansada para continuar. Ficámos num hotel em Delsbo. O quarto era pequeno e poeirento. Harriet tomou os seus medicamentos e
96
os seus analgésicos e adormeceu de pura exaustão. Talvez tenha tomado uma bebida sem que eu reparasse. Saí, encontrei uma farmácia e comprei um prontuário terapêutico.
Depois sentei-me num café, a ler acerca da medicação dela.
Havia algo de irreal em estar sentado ali, diante de uma chávena de café e de um bolo de creme, com várias criancinhas a gritar e a berrar para chamarem a atenção das respetivas mães, as quais estavam absorvidas em revistas muito manuseadas, e descobrir até que ponto Harriet estava doente. A sensação de estar a visitar um mundo com o qual perdera o contacto ao longo dos anos que passara na ilha dos meus avós era cada vez mais intensa. Durante doze anos havia negado a existência de qualquer outra coisa além das praias e escarpas que me rodeavam, um mundo que não tinha relevância para mim. Tinha-me transformado num eremita sem conhecimento do que se passava fora da caverna em que me escondia.
Mas naquele café, em Delsbo, tornou-se claro para mim que não podia continuar a viver aquela vida. Regressaria à minha ilha, bem entendido: não tinha outro lugar para onde ir. Mas nada voltaria a ser como dantes. No momento em que avistara aquela mancha escura na vastidão branca da neve e do gelo, fechara-se atrás de mim uma porta que nunca mais se abriria.
Comprei um postal ilustrado numa loja de esquina. Representava uma cerca coberta de neve. Enviei-o a Jansson.
Pedia-lhe para dar de comer aos animais. Nada mais.
Quando cheguei ao quarto, Harriet estava acordada. Abanou a cabeça ao ver o livro que eu tinha nas mãos.
- Hoje não me apetece falar dos meus males.
Fomos jantar ao restaurante de grelhados que ficava ao lado do hotel.
Quando vi a cozinha e aspirei o aroma dos cozinhados, ocorreu-me que vivíamos numa época de fritos e refeições prontas. Não tardou que Harriet afastasse o seu prato e anunciasse que não conseguia comer nem mais uma garfada. Tentei convencê-la a comer um pouco mais, mas para quê? Um moribundo não come mais do que é preciso para
sustentar a pouca vida que lhe resta.
97
Voltámos para o quarto pouco depois. As paredes eram finas, Ouvíamos duas pessoas a falar no quarto ao lado. As suas vozes subiam e desciam. Tanto Harriet como
eu apurámos os ouvidos, mas não conseguíamos distinguir as palavras.
- Continuas a gostar de escutar às portas? - perguntou ela.
- Na minha ilha não há conversas para escutar - retorqui.
- Tinhas a mania de escutar as minhas conversas telefónicas, apesar de te fingires desinteressado e de te mostrares muito ocupado a folhear um livro ou uma revista. Era assim que disfarçavas as tuas orelhas de elefante. Lembras-te?
Fiquei aborrecido. Ela tinha razão, claro. Sempre gostei de escutar às portas, desde o tempo em que ouvia clandestinamente as conversas carregadas de angústia existencial entre o meu pai e a minha mãe. Passei a vida a esconder-me atrás de portas semicerra-das e a escutar colegas, doentes, conversas íntimas de pessoas com quem me cruzava em cafés ou comboios. Descobri que a maior parte das conversas continha pequenas mentiras, quase indetetáveis. Costumava perguntar a mim próprio se teria sido sempre assim. Se sempre tinha sido necessário as conversas conterem elementos mínimos de falsidade para chegarem a algum lado?
A conversa no quarto ao lado terminara. Harriet estava cansada. Deitou-se e fechou os olhos.
Vesti o casaco e fui explorar a pequena vila deserta. Para onde quer que se olhasse, havia uma luz azulada a escoar-se de janelas gradeadas. Ocasionalmente, uma motorizada ou um carro em excesso de velocidade, depois o silêncio dominava de novo. Harriet queria que conhecesse a filha dela. Porquê? Seria para me mostrar que se tinha saído perfeitamente sem mim, que dera à luz a criança que eu não tivera o privilégio de conceber com ela? Senti pontadas de tristeza, enquanto me arrastava através da noite invernosa.
Detive-me num ringue de gelo brilhantemente iluminado, onde alguns jovens patinavam com sticks de bandy1 e uma bola vermelha.
1 Desporto coletivo de inverno, jogado sobre patins e com sticks semelhantes aos do hóquei em gelo, mas praticado ao ar livre e com regras semelhantes às do futebol. (N. da T.)
98
De repente, senti-me muito próximo dos dias da minha própria juventude. O som crepitante dos patins no gelo, do stick a bater na bola, os brados ocasionais, os patinadores a caírem apenas para se porem imediatamente em pé de novo. Era exatamente como me lembrava, embora de facto nunca tivesse posto as mãos num stick de bandy: tinha sido encaminhado para um ringue de hóquei em gelo, no qual o jogo era sem dúvida muito mais doloroso do que aquilo que se desenrolava diante dos meus olhos.
Põe-te em pé assim que caíres.
Era essa a mensagem que se aprendia nos ringues de hóquei da minha juventude. Uma lição a aplicar ao longo da vida que nos esperava.
Levanta-te sempre que caíres. Nunca te deixes ficar no chão. Mas eu fizera justamente isso. Tinha-me deixado ficar caído depois de cometer o meu grande erro.
Vi-os jogar e não tardei a escolher um rapazinho pequenino, o mais pequeno deles todos, embora fosse gordo - ou talvez usasse apenas mais proteções do que os outros? Mas era o melhor. Acelerava mais depressa do que qualquer dos companheiros, driblava a bola com o stick sem precisar sequer de olhar para o que estava a fazer, fintava com uma velocidade surpreendente e estava sempre na posição exata para receber um passe. Um miúdo gorducho e baixinho, que era um patinador mais rápido do que qualquer dos outros. Tentei imaginar qual dos patinadores era mais parecido comigo quando tinha a idade deles. Qual deles teria eu sido, com o meu stick de hóquei, muito mais pesado? Certamente que não o rapazinho que sabia patinar tão depressa e tinha um sentido da bola muito melhor do que a maioria. Seria um dos muitos zés-ninguém: um vulgar mir-tilo que podia ser colhido e substituído por qualquer outro mirtilo.
Nunca fiques no chão se não fores obrigado.
Tinha feito o que nunca se devia fazer.
Voltei para o hotel. Não havia rececionista da noite. A porta do quarto abria também a porta da rua. Harriet estava na cama. Uma das garrafas de brandy perfilava-se na sua mesa de cabeceira.
- Julguei que tinhas fugido - disse ela. - Vou dormir. Bebi um copo e tomei um comprimido.
99
Virou-se para o lado e depressa adormeceu. Peguei-lhe cuidadosamente no pulso e tomei-lhe a pulsação: setenta e oito batidas por minuto. Sentei-me numa cadeira, liguei a televisão e vi o noticiário com o som tão baixo que nem os meus ouvidos de especialista em escutar às portas conseguiram decifrar uma única palavra do que era dito. As imagens pareciam ser as do costume. Espécimes de humanidade ensanguentados, torturados, em sofrimento. Depois uma série de homens bem vestidos a fazer declarações intermináveis, sem mostrar o mais pequeno sinal de compaixão, apenas sorrisos arrogantes. Desliguei o aparelho e meti-me na cama. Pensei na jovem mulher-polícia, de cabelos louros, antes de adormecer.
A uma da tarde do dia seguinte estávamos perto de Hudiksvall. Parara de nevar e não havia gelo nas estradas. Harriet apontou uma placa para Rângevallen. O piso era terrível, destruído por monstruosas máquinas de corte de árvores. Depois virámos de novo, desta vez para um caminho privado. A floresta era muito densa. Perguntei-me que tipo de pessoa seria a filha de Harriet, para viver assim, num local tão remoto, nas profundezas da floresta. A única pergunta que lhe fizera durante a viagem fora se Louise tinha marido ou filhos. Não tinha. Havia toros empilhados em vários locais, ao lado da estrada. Esta lembrava-me a que levava a casa de Sara Larsson.
Quando emergimos finalmente numa clareira, vi vários edifícios em ruínas e cercas delapidadas. E uma grande caravana, com um avançado.
- Chegámos - disse Harriet. - É aqui que vive a minha filha.
- Na caravana?
- Estás a ver algum outro edifício com um telhado que não tenha ruído?
Ajudei-a a sair do carro e fui buscar o andarilho. Ouvia-se o ruído de um motor, proveniente de algo que talvez tivesse sido outrora um canil. Dificilmente podia ser senão um gerador. Havia uma antena parabólica no tejadilho da caravana. Ficámos ali parados por vários minutos, sem que nada acontecesse. Senti um desejo intenso de regressar à minha ilha.
100
A porta da caravana abriu-se. Uma mulher emergiu.
Vestia um roupão cor-de-rosa e sapatos de salto alto. Não me pareceu nada fácil calcular a sua idade. Segurava um maço de cartas numa mão.
- Esta é a minha filha - disse Harriet.
Empurrou o andarilho pela neve até chegar junto da mulher, que tentava equilibrar-se nos seus saltos altos. Fiquei onde estava.
- Este é o teu pai - disse Harriet à filha.
Havia neve no ar. Pensei em Jansson e desejei com todas as minhas forças que ele viesse buscar-me no seu hidrocóptero.
101
A FLORESTA
CAPÍTULO 1
A minha filha não tem um poço próprio.
Escusado será dizer que não havia água corrente na sua caravana, nem qualquer sinal de uma bomba em qualquer ponto do terreno. Para ir buscar água, tive de seguir um carreiro que descia a encosta, atravessava um maciço de árvores baixas e, por fim, ia dar a outra quinta abandonada, com janelas sem vidros e corvos desconfiados empoleirados nas chaminés. No pátio havia uma bomba ferrugenta, que deitava água. Enquanto puxava e empurrava a alavanca, o ferro enferrujado gritou de dor.
Os corvos mantinham-se imóveis.
Foi a primeira coisa que a minha filha me pediu para fazer por ela. Ir buscar dois baldes de água. Fiquei grato por ela não dizer mais nada. Podia ter gritado comigo e dito para me ir embora, ou podia ter sido dominada pela alegria de conhecer finalmente o pai. Mas a única coisa que fez, foi pedir-me para ir buscar água. Peguei nos baldes e percorri o carreiro no meio da neve. Será que normalmente era ela quem lá ia, no seu roupão cor-de-rosa e nos seus sapatos de salto alto? Mas o que mais me interessava saber, era o que acontecera há tantos anos e por que motivo ninguém me dissera nada a esse respeito.
A quinta abandonada ficava a duzentos e cinquenta metros. Quando Harriet dissera que a mulher da caravana era minha filha, soube imediatamente que ela estava a dizer a verdade. Harriet era incapaz de mentir. Procurei na minha memória o momento em que a criança devia ter sido concebida. Enquanto caminhava penosamente
105
pela neve, ocorreu-me que a única possibilidade era Harriet ter descoberto que estava grávida depois do meu desaparecimento. Portanto o momento da conceção
devia ter ocorrido cerca de um mês antes de nos separarmos.
Esforcei-me por recordar.
A floresta era silenciosa. Senti-me como um gnomo, a caminhar pela neve num antigo conto de fadas. Nunca tínhamos feito amor sem ser no sofá-cama dela. Portanto, devia ter sido ali que a minha filha fora gerada. Quando eu partira para a América e Harriet esperara em vão no aeroporto, ela ainda não devia saber o que se passava. Só se apercebera da situação mais tarde e, por essa altura, já eu tinha desaparecido.
Bombeei a água. Depois pousei os baldes ao lado da bomba e entrei na casa abandonada. A porta da frente estava podre: caiu quando a empurrei com o pé.
Vagueei pelas salas, que cheiravam a mofo e madeira podre. Era como examinar um transatlântico naufragado. Pedaços de jornal sobressaíam por trás do papel de parede rasgado. Uma página do Ljusnan de 12 de março de 1969: "Deu-se um acidente de automóvel em..." Faltava o resto do artigo. "Nesta fotografia, a Sra. Mattsson exibe uma das suas tapeçarias mais recentes, criada com o seu habitual carinho..." A fotografia estava rasgada, o rosto da Sra. Mattsson e uma das suas mãos ainda eram visíveis, mas a tapeçaria não. No quarto encontravam-se os restos de uma cama de casal. Dava a impressão de ter sido cortada em pedaços com um machado. Alguém dera largas à sua raiva na cama e garantira que nunca mais poderia ser utilizada para dormir.
Tentei conjurar imagens das pessoas que tinham vivido naquela casa e, um dia, a tinham deixado para nunca mais voltarem. Mas os seus rostos estavam voltados. As casas abandonadas são como vitrinas vazias num museu. Saí do edifício e tentei assimilar a ideia de que tinha adquirido uma filha, subitamente, a qual vivia na floresta a sul de Hudiksvall. Uma filha que devia ter trinta e sete anos e vivia numa caravana. Uma mulher que passeava na neve de roupão cor-de-rosa e sapatos de salto alto.
Uma coisa era clara para mim.
106
Harriet não a preparara para aquilo. Ela sabia que tinha um pai, bem entendido, mas não que esse pai era eu. Não fora o único a ser apanhado de surpresa. Harriet surpreendera-nos a ambos.
Peguei nos baldes e empreendi o caminho de regresso. Por que viveria a minha filha numa caravana nas profundezas da floresta? Quem era ela? Quando apertámos as mãos, não me atrevi a olhá-la nos olhos. Rodeava-a um intenso cheiro a perfume. A sua mão estava transpirada.
Pousei os baldes para descansar os braços.
- Louise - disse em voz alta, para mim próprio. - Tenho uma filha chamada Louise.
Aquelas palavras deixavam-me aturdido, um pouco assustado, mas também cheio de alegria. Harriet viera ter comigo, atravessando o gelo no hidrocóptero de Jansson, trazendo-me notícias da vida e não apenas da morte que não tardaria a reclamá-la.
Peguei de novo nos baldes e transportei-os até à caravana. Bati à porta. Louise veio abrir. Ainda calçava os sapatos de salto alto, mas substituíra o roupão cor-de-rosa por calças e uma camisola. Tinha uma ótima figura. Fez-me sentir envergonhado.
A caravana era acanhada. Harriet espremera-se para um banco-cama atrás de uma mesinha, junto à janela. Sorria. Retribuí o sorriso. Estava calor dentro da caravana. Louise ocupava-se a fazer café.
Tinha uma voz encantadora, tal como a mãe. Se o gelo era capaz de cantar, o mesmo acontecia com a minha filha.
Olhei em redor. Rosas secas penduradas do teto, uma prateleira com documentos e cartas, uma máquina de escrever antiquada pousada num tamborete. Um rádio, mas nenhum televisor. Comecei a preocupar-me com o tipo de vida que ela levava. Parecia um eco da minha.
E agora apareceste na minha vida, pensei. A coisa mais inesperada que jamais me aconteceu.
Louise pegou num termo de café e nalgumas canecas de plástico. Sentei-me na cama, ao lado de Harriet. A minha filha ficou em pé, a olhar para mim.
107
- Fico satisfeita por constatar que não me desfiz em lágrimas - disse ela. - Mas fico ainda mais satisfeita por constatar que não te deixaste levar pelo entusiasmo, afirmando que estás muito feliz com o que acabaste de descobrir.
- Ainda não assimilei bem a situação. Por outro lado, nunca fico entusiasmado a ponto de perder o autodomínio.
- Talvez penses que não é verdade?
Pensei nos muitos maços de documentos legais cobertos de pó, contendo declarações de jovens rapazes que juravam não ser o pai.
- Tenho a certeza de que é verdade.
- Estás triste por não teres sabido da minha existência mais cedo? Por eu ter entrado na tua vida tão tarde?
- Sou razoavelmente imune à tristeza - retorqui. - Por agora, estou mais surpreendido do que qualquer outra coisa. Há uma hora não tinha filhos. Nem julgava que viesse jamais a tê-los.
- Que fazes para ganhar a vida?
Olhei para Harriet. Portanto ela não dissera absolutamente nada a Louise acerca do pai, nem sequer que era médico. Isso chocou-me. Que teria dito a meu respeito? Que a filha tinha um pai que não fora mais do que um navio a passar na noite?
- Sou médico. Ou fui médico, para ser mais preciso.
Louise fitou-me interrogativamente, com a caneca de café na mão. Reparei que usava um anel em cada um dos dedos, incluindo os polegares.
- Que tipo de médico?
- Era cirurgião.
Ela fez uma careta. Lembrei-me do meu pai e da sua reação quando lhe dissera, aos quinze anos, o que queria ser.
- Podes passar receitas?
- Já não. Estou reformado.
- Isso é uma pena.
Louise pousou a caneca de café e enfiou um barrete de lã na cabeça.
- Se precisares de fazer chichi, vai atrás da caravana e depois tapa tudo com neve. Se tiveres necessidade de fazer algo mais substancial, usa a sanita seca ao lado do telheiro da lenha.
108
Saiu, um pouco insegura nos seus sapatos de salto alto. Virei-me para Harriet.
- Porque não me falaste nela? E vergonhoso!
- Não me fales em comportamento vergonhoso! Não sabia como reagirias.
- Teria sido mais fácil se me tivesses preparado para isto.
- Não me atrevi. Podias pôr-me fora do carro e deixar-me na berma da estrada. Como podia saber se querias um filho?
Harriet tinha razão. Não podia saber como eu reagiria. Tinha toda a razão para não confiar em mim.
- Porque é que ela vive assim? Como ganha a vida?
- Foi a sua opção. Não sei o que faz para viver.
- Mas deves fazer uma ideia?
- Escreve cartas.
- Com certeza não consegue ganhar a vida com isso?
- Parece ser possível.
Ocorreu-me que as paredes da caravana eram delgadas e que a minha filha podia estar ali fora, com o ouvido colado ao plástico frio, ou lá o que aquilo era. Talvez tivesse herdado a minha tendência para escutar às portas?
Baixei a voz até se transformar num sussurro.
- Porque achas que ela tem aquele aspeto? Porque anda pela neve de saltos altos?
- A minha filha...
- A nossa filha!
- A nossa filha sempre pensou pela sua própria cabeça. Mesmo quando ainda só tinha cinco anos, já eu tinha a sensação de que ela sabia exatamente o que queria fazer da vida e que eu nunca conseguiria decifrá-la.
- Que queres dizer com isso?
- Ela optou sempre por viver a sua vida sem se ralar muito com o que os outros pensavam. Os sapatos, por exemplo. Ajello, fabricados em Milão. Muito poucas pessoas se atrevem a viver como ela vive.
A porta abriu-se e a nossa filha entrou.
- Tenho de repousar - declarou Harriet. - Estou cansada.
109
- Sempre estiveste cansada - retorquiu Louise.
- Nem sempre estive a morrer.
Por um momento, bufaram uma à outra, como gatos. Não de um modo maldoso, mas também não exatamente amigável. Em qualquer caso, nenhuma delas pareceu surpreendida pela reação da outra. Portanto, Louise tinha conhecimento do facto de a mãe estar a morrer.
Levantei-me, para que Harriet pudesse deitar-se na cama estreita. Louise calçou um par de botas.
- Vamos dar uma volta - propôs. - Preciso de exercício. Além disso, acho que estamos ambos um pouco abalados.
Havia um caminho muito usado que seguia na direção oposta à da quinta abandonada. Passámos por uma antiga adega subterrânea e penetrámos num denso bosque de coníferas. Louise andava depressa e eu tinha dificuldade em acompanhá-la. De súbito, ela virou-se para me encarar.
- Julgava que tinha um pai que partira para a América e desaparecera. Um pai chamado Henry, que era doido por abelhas e passava a vida a estudá-las. Mas os anos foram passando e ele nunca me mandou sequer um frasco de mel. Pensei que estava morto. Mas não estás morto. Agora conheci-te. Quando voltarmos para a caravana, vou tirar uma fotografia tua e da Harriet. Tenho montes de fotografias dela, sozinha ou comigo. Mas quero uma fotografia com o meu pai e a minha mãe, antes que seja demasiado tarde.
Continuámos a percorrer o caminho.
Parecia-me que Harriet tinha contado os factos a Louise. Ou, pelo menos, tanto quanto podia, sem mentir. Eu tinha ido para a América e tinha desaparecido. E, na minha juventude, interes-sava-me por abelhas. Além disso, era indubitavelmente verdade que ainda não tinha morrido.
Continuámos a caminhar na neve.
Ela teria a sua fotografia do pai e da mãe.
Ainda não era demasiado tarde para tirar a fotografia de que ela precisava.
110
CAPÍTULO 2
O sol baixara sobre o horizonte.
No meio de um pequeno campo havia um ringue de boxe, coberto de neve. Parecia que alguém o deitara fora e a estrutura fora aterrar por acaso na planura branca. Dois
bancos de madeira periclitantes, que podiam muito bem ter sido trazidos de uma capela ou de um cinema, estavam semiocultos na neve.
- Fazemos partidas de boxe na primavera e no verão - explicou Louise. - Geralmente começamos a época no meio de maio. É nessa altura que nos pesamos, na velha balança de uma vacaria.
- Nós? Queres dizer que também praticas boxe?
- Claro. Porque não?
- Com quem combates?
- Com os meus amigos. Gente das redondezas, que optou por viver o tipo de vida que lhes parece melhor. Leif, por exemplo, que vive com a sua velha mãe e que geria a maior operação de contrabando de álcool num raio de vários quilómetros. Amandus, que toca violino e tem punhos muito fortes.
- Mas certamente não se pode ser pugilista e tocar violino? Como é que os dedos dele se aguentam?
- Terás de perguntar isso ao Amandus. Pergunta aos outros.
Não me disse quem eram os outros. Continuou a seguir o caminho muito usado que ia dar a um celeiro, do outro lado do ringue de boxe. Ao observá-la por trás, reparei que o seu corpo era muito parecido com o de Harriet. Mas qual teria sido o aspeto da minha filha quando era pequena? Ou adolescente? Arrastei-me atrás dela
111
pela neve e tentei imagínar-me no passado. Louise nascera en 1967. Era adolescente quando eu estava no auge da minha carrein de cirurgião. De súbito, senti uma onda
de fúria. Por que não tinha Harriet dito nada?
Louise apontou para uns rastos na neve e disse que tinham sido feitos por um glutão. Abriu a porta do celeiro. Havia uma candeia de parafina no chão; ela acendeu-a
e suspendeu-a num gancho no teto. Era como entrar num ginásio antiquado, usado por pugilistas ou praticantes de luta livre. Espalhados pelo chão havia halteres e barras para levantamento de pesos, via-se um saco de boxe suspenso do teto e, sobre um banco, repousava uma corda de saltar muito bem enrolada, juntamente com vários pares de luvas de boxe vermelhas e pretas.
- Se fosse primavera, sugeria tentarmos uns assaltos - disse Louise. - Não consigo imaginar melhor maneira de começar a conhecer um pai que nunca tinha visto. Em vários sentidos.
- Nunca, nunca calcei um par de luvas de boxe.
- Mas deves ter entrado numa ou outra luta?
- Quando tinha uns treze ou catorze anos, talvez. Mas foram mais como combates de luta livre no recreio da escola.
Louise parou junto ao saco de boxe e fê-lo balouçar docemente para trás e para diante, com o ombro. A candeia de parafina brilhava mesmo por cima da sua cabeça. Ainda me parecia estar a olhar para Harriet.
- Estou nervosa - disse ela. - Tens mais filhos? Abanei a cabeça.
- Nenhum?
- Não, nenhum. E tu?
- Não.
O saco de boxe continuava a balouçar para trás e para diante.
- Estou tão confusa como tu - disse ela. - Houve alturas em que me lembrava que devia ter tido um pai, apesar de tudo, e a ideia deixava-me furiosa. Acho que foi por isso que me meti no boxe. Para poder deixá-lo estendido ao comprido no dia em que ele surgisse dos mortos e despachá-lo para a eternidade, como vingança por me ter abandonado.
112
A luz da candeia dançava nas paredes rugosas. Contei-lhe como Harriet aparecera de repente no gelo, a ida à lagoa da floresta e o desvio que ela me pedira subitamente
para fazer.
- Não disse nada a meu respeito?
- Não, só falou na lagoa da floresta. Depois disse que queria que eu conhecesse a filha dela.
- Devia pô-la na rua, palavra. Fez-nos de parvos, aos dois. Mas não se põe uma pessoa doente na rua.
Levantou a mão e parou o saco de boxe.
- E verdade que vai morrer em breve? És médico, deves saber se está a dizer a verdade.
- Está muito doente, isso é certo. Mas não sei quando irá morrer. Ninguém pode pôr uma data numa coisa dessas.
- Não quero que morra na minha caravana - declarou Louise, soprando a candeia de parafina.
Ficámos envolvidos por uma escuridão de breu. Os nossos dedos tocaram-se por acaso. Ela pegou-me na mão. Tinha força.
- Estou muito contente por teres aparecido - confessou. - Suponho que, lá no fundo, sempre pensei que o farias, um dia.
- Nunca me tinha ocorrido que podia ter uma criança.
- Não tens uma criança. Tens uma mulher adulta, a caminho da meia-idade.
Ao emergirmos do celeiro, ela recortava-se à minha frente como uma silhueta. As estrelas pareciam estar quase ao nosso alcance, cintilando.
- Nunca fica completamente escuro aqui no Norte - disse Louise. - Quando se vive numa grande cidade, não se consegue ver as estrelas. É por isso que vivo aqui. Quando
vivia em Estocolmo, tinha saudades do silêncio mas, acima de tudo, das estrelas. Não compreendo por que motivo nunca parece ter ocorrido a ninguém que neste país
temos recursos naturais fantásticos, à espera de serem explorados. Porque não há ninguém a vender o silêncio, tal como vendem as florestas e o minério de ferro?
Compreendi o que ela queria dizer. Silêncio, céus estrelados, talvez também solidão. Essas coisas deixaram simplesmente de
113
existir para a maioria das pessoas. Começava a pensar que ela era muito parecida comigo, apesar de tudo.
- Vou fundar uma empresa - prosseguiu ela. - Os meus amigos do boxe serão meus sócios. Vamos começar a vender estas noites cintilantes e silenciosas. Um destes dias seremos todos muito ricos, tenho a certeza.
- Quem são esses teus amigos?
- Há uma aldeia abandonada alguns quilómetros a norte daqui. O último habitante mudou-se nos anos setenta. As casas estavam todas vazias, ninguém as queria sequer para passar férias. Mas o Sr. Mateotti, um sapateiro italiano, veio até cá, na sua jornada em busca de silêncio. Agora vive numa dessas casas e faz dois pares de sapatos por ano. No princípio de maio, todos os anos, um helicóptero aterra no campo atrás da sua casa. Um homem de Paris vem buscar os sapatos, paga-lhe o seu trabalho e entrega-lhe as encomendas para os sapatos que Giaconelli deve fazer no ano seguinte. Há um antigo cantor de rock, que vive na loja da aldeia de Sparrman, que fechou há anos. Usava o pseudónimo de Red Bear e teve dois discos de ouro, o que fez dele candidato ao título de Rei do Rock sueco, em concorrência com Ricky Rock e Gary Granite. Tinha o cabelo muito ruivo e gravou uma versão deliciosa de Peggy Sue. Mas quando festejamos o meio do verão e nos sentamos para comer à nossa mesa, no ringue de boxe, todos queremos que ele cante The Great Pretender.
Lembrava-me muito bem dessa canção, na versão original gravada pelos Platters. Até a tinha dançado com Harriet. Supunha que conseguiria lembrar-me da letra toda, se fizesse um esforço.
Mas Red Bear e os seus discos de ouro... isso não me dizia nada.
- Parece que vive uma quantidade de pessoas notáveis por aqui.
- Há pessoas notáveis em toda a parte, mas ninguém dá por elas porque são velhas. Vivemos numa época em que se pretende que os velhos sejam tão transparentes como
uma vidraça. É melhor se nem sequer notarmos que existem. Tu também estás a ficar cada vez mais transparente. A minha mãe já o é há anos.
Ficámos parados, em silêncio. Conseguia distinguir as luzes da caravana, ao longe.
114
- Às vezes tenho vontade de me deitar aqui na neve, com o meu saco-cama - disse Louise. - Na lua cheia, a luz azul dá-me a sensação de estar num deserto. As noites
no deserto também são frias.
- Nunca estive num deserto. A menos que as areias movediças de Skagen contem como deserto?
- Um destes dias vou mesmo deitar-me cá fora. Correrei o risco de nunca mais acordar. Não temos só músicos de rock por aqui; também temos músicos de jazz. Quando me deitar cá fora e tentar adormecer, farei com que façam um círculo à minha volta e cantem um lamento prolongado.
Retomámos a marcha através da neve. Uma coruja piou algures, ao longe. As estrelas pareciam cair do céu e acender-se de novo. Tentei digerir o que ela me dissera.
A noite acabou por ser muito estranha.
Louise preparou uma refeição na caravana, enquanto Harriet e eu nos comprimíamos no pequeno sofá-cama. Quando observei que a mãe e eu tínhamos de procurar um sítio para passar a noite, Louise insistiu que podíamos dormir os três na sua cama. Preparava-me para protestar, mas depois resolvi não o fazer. Louise foi buscar um jarro de vinho que parecia muito forte e sabia a groselha. Depois serviu um guisado que afirmou conter carne de alce e acompanhou-o com um sortido de legumes cultivados por um dos seus amigos numa estufa que, evidentemente, também lhe servia de casa. Chamava-se Olof, dormia no meio dos pepinos e era um dos homens com quem ela jogava boxe na primavera.
Não tardou que estivéssemos todos bêbedos, especialmente Harriet. Cabeceava sem cessar. Louise tinha o divertido hábito de bater os dentes sempre que esvaziava um copo. Esforcei-me para me manter sóbrio, mas falhei.
A nossa conversa tornou-se cada vez mais confusa e desconcertante, mas consegui inferir alguma coisa do tipo de relação entre Louise e Harriet. Mantinham-se permanentemente em contacto uma com a outra, discutiam com frequência e raramente concor davam
115
fosse acerca do que fosse. Mas eram muito afeiçoadas uma à outra. Tinha adquirido uma família que ressumava raiva, mas que era ligada por um amor profundo
e sincero.
Falámos muito tempo acerca de cães: não do tipo que se leva a passear à trela, mas dos cães selvagens que vagueiam nas planícies africanas. A minha filha disse que
lhe recordavam os seus amigos que viviam na floresta, uma matilha de cães selvagens africanos a abanar a cauda a um rebanho de pugilistas do norte da Suécia. Contei-lhes que tinha um cão cuja mistura de raças era tal que se tornava impossível perceber ao certo qual era a sua ascendência. Quando Louise compreendeu que o cão passeava à vontade na ilha dos meus avós, manifestou uma viva aprovação. Também se mostrou interessada nas histórias da minha gata velha.
Harriet acabou por adormecer, graças a um misto de exaustão, álcool e vinho de groselha. Louise tapou-a ternamente com um cobertor.
- Sempre ressonou. Quando era pequena, costumava fingir que quem ressonava não era ela, mas sim o meu pai, que vinha visitar-nos todas as noites na forma de uma criatura invisível mas ressonante. Ressonas?
- Ressono, sim.
- Graças a Deus por isso! A saúde do meu pai!
- A saúde da minha filha!
Louise encheu mais uma vez os nossos copos, descuidadamente, e entornou vinho na mesa. Limpou-o com a palma da mão.
- Quando ouvi o carro a chegar, perguntei-me que tipo de velho excêntrico Harriet teria trazido com ela desta vez.
- Ela vem visitar-te muitas vezes com homens diferentes?
- Velhos excêntricos. Não são homens. Consegue sempre arranjar alguém disposto a trazê-la cá e a levá-la de novo para casa. Senta-se muitas vezes num café qualquer de Estocolmo, com um ar cansado e infeliz. Há sempre alguém que lhe pergunta se pode ajudá-la, talvez dar-lhe uma boleia até casa. Depois de instalada no carro, com o andarilho metido na bagageira, ela diz que a "casa" fica umas centenas de quilómetros para norte, logo abaixo de Hudiksvall. Surpreendentemente, muito poucos se recusam
116
a trazê-la. Mas ela não tarda a cansar-se do velho excêntrico e a largá-lo por outro. A minha mãe é muito impaciente. Quando eu era pequena, havia longos períodos em que encontrava sempre um homem diferente na cama dela aos domingos de manhã. Adorava pôr-me aos saltos em cima deles, para os acordar e fazer com que tomassem conhecimento do desagradável facto da minha existência. Mas havia alturas em que ela passava semanas e até meses sem olhar sequer para um homem.
Saí para urinar. A noite estava cintilante. Pela janela, vi Louise pôr uma almofada por baixo da cabeça da mãe. Quase me desfiz em lágrimas. Pensei que talvez fosse melhor fugir. Meter-me no carro e pôr-me a andar dali para fora. Mas continuei a observá-la pela janela, com a nítida sensação de que ela sabia que eu estava a olhar. De repente, virou a cabeça para a janela e sorriu.
Deixei o carro onde estava e voltei para a caravana.
Sentámo-nos naquele espaço acanhado, a beber e a travar uma conversa hesitante. Não creio que nenhum de nós soubesse verdadeiramente o que queria dizer. Louise tirou alguns álbuns de fotografias de uma gaveta. Algumas eram instantâneos a preto-e-branco desbotados, mas a maior parte eram fotografias a cores de má qualidade, do princípio dos anos setenta, da época em que toda a gente ficava com os olhos vermelhos e a abrir a boca para o fotógrafo, quais vampiros. Havia fotografias da mulher que eu abandonara e da filha que teria desejado mais do que tudo no mundo. Uma rapariguinha, não uma adulta. Havia algo de evasivo na sua expressão. Como se não quisesse ser vista.
Folheei o álbum. Louise não falou muito, limitou-se a responder às perguntas que lhe fazia. Quem tirara a fotografia? Onde estavam? Quando a minha filha tinha sete anos, ela e Harriet passaram algumas semanas do verão com um homem chamado Richard Munter na ilha de Getterõn, perto de Varberg. Munter era um homem bem constituído, careca, e andava sempre com um cigarro na boca. Senti-me atazanado pelos ciúmes. Aquele homem tinha estado com a minha filha na idade que eu desejava que ela ainda tivesse. Morrera poucos anos depois, já a sua ligação com Harriet terminara. Um bulldozer capotara, esmagando-o. Agora, tudo o que restava
117
dele eram fotografias de fraca qualidade, com o cigarro sempre presente e os olhos vermelhos resultantes do flash da máquina.
Fechei o álbum; não tinha forças para aguentar mais fotografias. O nível do vinho que restava no jarro era cada vez mais baixo. Harriet estava a dormir. Perguntei a Louise a quem escrevia as suas cartas. Ela abanou a cabeça.
- Hoje não. Amanhã, quando tivermos curado a ressaca. Agora temos de ir deitar-nos. Pela primeira vez na vida, vou deitar-me entre os meus pais.
- Não há espaço suficiente para nós os três nessa cama. Eu durmo no chão.
- Há espaço.
Empurrou docemente Harriet para a parede e dobrou a mesa, depois de ter levantado as chávenas e os copos. A cama era extensível, mas parecia evidente que ainda assim
ficaria muito estreita.
- Não vou despir-me à frente do meu pai - declarou Louise. - Vai lá para fora. Bato na parede quando me tiver enfiado debaixo dos cobertores.
Obedeci.
O céu estrelado rodopiava. Tropecei e caí na neve. Tinha adquirido uma filha e talvez ela viesse a gostar, porventura mesmo a amar, o pai que não conhecera mais cedo.
A minha vida passou-me subitamente diante dos olhos.
Tinha conseguido chegar até ali. Talvez ainda me esperassem mais algumas encruzilhadas. Mas não muitas. A minha jornada estava quase no fim.
Louisé bateu na parede da caravana. Tinha apagado as luzes todas e acendido uma vela, que estava pousada em cima do minúsculo frigorífico. Vi dois rostos lado a lado. Harriet ocupava a outra ponta da cama e a minha filha estava deitada ao seu lado. Havia uma pequena faixa de cama para mim.
- Apaga a vela - disse Louise. - Não quero gastá-la na primeira noite em que dormi com os meus pais.
Despi-me, mas não tirei a camisola interior nem as calças, soprei a vela e meti-me na cama. Era impossível evitar tocar em Louise. Constatei, para meu horror, que estava nua.
118
- Não podes vestir uma camisa de noite? - perguntei. - Não posso dormir contigo ao meu lado, nua. Compreendes isso, com certeza?
Ela passou por cima de mim e vestiu algo que me pareceu ser um vestido. Depois voltou para a cama.
- São horas de dormir - declarou. - Finalmente vou ter oportunidade de ouvir o meu pai a ressonar. Ficarei acordada até adormeceres.
Harriet murmurava no seu sono. Sempre que se virava, éramos obrigados a ajustar a nossa posição. O corpo de Louise era quente. Só queria que ela fosse uma rapariguinha, a dormir profundamente com uma camisa de noite. Não uma mulher adulta que entrara subitamente na minha vida.
Não sei quando consegui finalmente adormecer. Passou muito tempo antes que a cama deixasse de parecer girar. Quando acordei, estava sozinho.
A caravana estava vazia. O carro tinha desaparecido.
119
CAPITULO 3
Os rastos na neve mostraram-me como Louise tinha feito inversão de marcha e partido. Ocorreu-me que tudo aquilo tinha sido planeado antecipadamente. Harriet fora
buscar-me, levara-me a conhecer a minha filha ignorada e depois tinham-se metido as duas no meu carro e desaparecido. Eu ficara abandonado na floresta.
Eram dez menos um quarto. O tempo mudara e a temperatura estava acima do ponto de congelação. Pingava água da caravana suja. Fui lá para dentro. Doía-me a cabeça
e tinha a boca seca. Não havia sinais de qualquer mensagem a dizer onde tinham ido. Havia um termo de café em cima da mesa. Fui buscar uma caneca rachada, com publicidade a uma cadeia de lojas de produtos naturais.
A floresta parecia avançar sobre a caravana.
O café era forte, a ressaca, dolorosa. Levei a minha chávena de café para o ar livre. Uma névoa húmida pairava sobre a floresta. Um tiro de espingarda ecoou ao longe. Retive a respiração. Seguiu-se um segundo tiro, depois nada mais. Dava a impressão de que os sons tinham de esperar em fila antes de obterem permissão para penetrar no silêncio e, mesmo então, de modo apenas hesitante, um de cada vez.
Fui de novo para a caravana e pus-me a revistá-la metodicamente. Embora fosse pequena e estivesse atulhada, havia uma quantidade surpreendente de espaço de arrumação. Louise mantinha tudo em boa ordem. A sua cor favorita para vestuário parecia ser o castanho, embora algumas peças fossem de um tom vermelho-escuro. A maior parte das roupas era em tons de terra.
120
Numa caixa de madeira simples, com o ano 1822 pintado na tampa, encontrei, com espanto, uma grande soma de dinheiro: notas de mil e de quinhentas coroas, totalizando quarenta e sete mil e quinhentas coroas. Depois comecei a investigar as gavetas que continham documentos e cartas.
A primeira coisa que encontrei foi uma fotografia autografada de Erich Honecker. Nas costas dizia que datava de 1986 e fora enviada pela embaixada da RDA em Estocolmo. Havia várias outras fotografias na gaveta, todas autografadas: Gorbachev, Ronald Reagan e africanos dos quais nunca tinha ouvido falar, mas que presumi serem estadistas.
Havia também uma fotografia de um primeiro-ministro australiano, cujo nome não consegui decifrar.
Passei à segunda gaveta, que estava cheia de cartas. Depois de ter lido cinco, comecei a perceber como a minha filha passava o seu tempo. Escrevia cartas a líderes
políticos de todas as partes do mundo, protestando acerca da maneira como tratavam os seus próprios cidadãos e também os povos de outros países. Em cada envelope havia uma cópia da carta que ela escrevera, na sua caligrafia irregular, e da resposta que recebera. Tinha escrito a Erich Honecker num inglês apaixonado, declarando que o Muro de Berlim era um escândalo vergonhoso. Em resposta recebera uma fotografia de Honecker num pódio, acenando a uma massa informe de alemães de Leste. Escrevera a Margaret Thatcher, instando-a a que tratasse com decência os mineiros em greve. Não encontrei resposta da Dama de Ferro; no envelope não havia nada além de uma fotografia de Thatcher a agarrar a mala de mão com força. Mas onde teria Louise arranjado todo aquele dinheiro? Não havia qualquer pista que permitisse responder a essa pergunta.
Não pude ir mais longe. Ouvi o ruído de um carro a aproximar-se, pelo que fechei as gavetas e saí da caravana. Louise conduzia depressa. Travou abruptamente na neve húmida.
Tirou o andarilho da bagageira.
- Não quisemos acordar-te. Tive muitíssimo gosto em descobrir que o meu pai é um perito na arte de ressonar.
Ajudou Harriet a sair do carro.
121
- Fomos às compras - disse Harriet com um sorriso. - Comprei meias, uma saia e um chapéu.
Louise tirou alguns sacos de compras do banco de trás.
- A minha mãe nunca teve o menor sentido de estilo - declarou.
Levei os sacos para a caravana, enquanto Louise ajudava Harriet a transpor a encosta escorregadia.
- Já comemos - disse ela. - Tens fome?
Tinha, mas abanei negativamente a cabeça. Não me agradava que ela tivesse levado o meu carro sem autorização.
Harriet estendeu-se na cama, a descansar. Vi que o passeio lhe fizera bem, mas, ainda assim, deixara-a exausta. Não tardou a adormecer. Louise exibiu o chapéu vermelho que a mãe comprara.
- Fica-lhe bem - afirmou. - É um chapéu que podia ter sido feito especificamente para ela.
- Nunca a vi usar chapéu. Quando éramos novos, andávamos sempre em cabelo. Mesmo quando estava frio.
Louise repôs o chapéu no respetivo saco e olhou em redor. Teria deixado vestígios? A minha filha perceberia que eu aproveitara a sua ausência para revistar as suas coisas? Ela virou-se para olhar para mim, depois para os meus sapatos, que repousavam sobre um jornal, ao pé da porta. Tinha-os há muitos anos. Estavam muito gastos e vários dos ilhós tinham rebentado.
- Vamos sair - disse ela.
Fiquei muito satisfeito com a ideia. A minha dor de cabeça era bastante forte.
Parámos junto da caravana, a inspirar o ar revigorante. Dei-me conta de que havia vários dias que não escrevia nada no meu diário. Não gosto de quebrar a minha rotina.
- O teu carro precisa de uma revisão - disse Louise. - Os travões estão desafinados.
- Está suficientemente bem para mim. Onde vamos?
- Visitar um bom amigo meu. Quero dar-te um presente.
Fiz inversão de marcha na neve lamacenta. Quando chegámos à estrada principal, Louise disse-me para virar à esquerda. Vários camiões, carregados de toros, levantavam nuvens de neve.
122
Ao fim de cerca de três quilómetros, ela disse-me para virar à direita: uma placa indicava que nos dirigíamos para um local chamado Motjärvsbyn. Os pinheiros chegavam mesmo até à beira da estrada, que não estava bem limpa. Louise concentrava-se no caminho à nossa frente. Trauteava uma canção; reconheci-a, mas não me conseguia lembrar do nome.
Chegámos a uma bifurcação e Louise apontou para a esquerda. Cerca de oitocentos metros mais adiante, a floresta recuou e a estrada passou a ser orlada por uma fileira de casas. Mas eram casas vazias, mortas, sem fumo a sair das chaminés. Só a casa que ficava na extremidade da fila, uma construção de madeira de dois pisos, com um alpendre maltratado pintado de verde, dava sinais de vida. Estava um gato sentado nos degraus. Um fiapo de fumo erguia-se da chaminé.
- Via Salandra, em Roma - disse Louise. - É uma rua que hei de percorrer, um destes dias. Já estiveste em Roma?
- Estive lá várias vezes. Mas não conheço essa rua.
Louise apeou-se. Segui-a. A casa de madeira devia ter mais de cem anos; ouvia-se música de ópera lá dentro.
- Nesta casa vive um génio - declarou Louise. - Giaconelli Mateotti. Está velho. Mas trabalhava para a célebre família de sapateiros, os Gatto. Na qualidade de jovem aprendiz, o ofício foi-lhe ensinado pelo grande Angelo Gatto, que abriu a sua oficina no princípio do século XX. Mas agora Giaconelli trouxe a sua arte para a floresta. Cansou-se do trânsito, dos clientes importantes que estavam sempre impacientes e se recusavam a aceitar o facto de que tempo e perseverança são essenciais para fazer bons sapatos.
Louise olhou-me nos olhos e sorriu.
- Quero dar-te um presente - prosseguiu. - Quero que Giaconelli te faça um par de sapatos. Os que tens agora são um insulto aos teus pés. Giaconelli disse-me como os nossos pés estão construídos: os ossos e os músculos que nos permitem andar e correr, levantar-nos nas pontas dos pés, até fazer ballet. Sei de cantores de ópera que não se preocupam muito com os diretores, os maestros, o guarda-roupa ou as notas agudas que têm de cantar, mas interessam-se apaixonadamente pelos sapatos que usam e que, segundo acreditam, lhes permitem cantar como deve ser.
123
Fiquei a olhar para ela. Era tal e qual como ouvir o meu pai. O empregado de mesa subjugado, há muito banido para a sepultura. Também ele falava de cantores de ópera e dos seus sapatos.
Era estranho, ver que o meu pai e a minha filha tinham aquilo em comum.
Mas os sapatos que ela me oferecia? Tentei objetar, mas ela levantou a mão a impor silêncio, subiu os degraus, afastou o gato e abriu a porta. A música de ópera atingiu-nos com toda a força. Vinha de uma das divisões ao fundo da casa. Atravessámos as salas onde Mateotti vivia e guardava as suas peles e formas. Numa das paredes fora pintado um lema, que depreendi ter sido escrito pelo próprio Mateotti. Alguém chamado Chuang Chou dissera: "Quando o sapato serve, não se pensa no pé."
Uma das salas estava cheia de formas de madeira, empilhadas do chão ao teto em prateleiras. De cada par pendia uma etiqueta com um nome. Louise puxou várias formas para fora e fiquei boquiaberto ao ler os nomes. Giaconelli fizera sapatos para presidentes americanos, que estavam agora mortos, mas cujas formas ainda ali continuavam. Havia maestros, atores e várias pessoas que tinham alcançado notoriedade, por bons ou maus motivos. Era uma experiência desconcertante caminhar por entre todos aqueles pés famosos. Era como se as próprias formas tivessem avançado por entre neve e lamaçais para que o mestre, que ainda não conhecera, pudesse fazer os seus maravilhosos sapatos.
- Duzentas operações individuais - disse Louise. - E o que é preciso para fazer um só sapato.
- Devem ser extremamente dispendiosos - observei. - Quando os sapatos são elevados ao nível de jóias.
Ela sorriu.
- Giaconelli deve-me um favor. Terá muito gosto em retribuir. Retribuir.
Quando tinha sido a última vez que ouvira alguém empregar aquela palavra em semelhante contexto? Não me lembrava. Talvez as pessoas que vivem nas profundezas da floresta utilizem a língua de uma maneira diferente? Talvez as pessoas que vivem em grandes cidades persigam as palavras como se fossem marginais?
124
Continuámos a percorrer a velha casa. Viam-se formas e utensílios por toda a parte, e uma das salas cheirava fortemente às peles curtidas empilhadas em simples mesas de cavalete.
A ópera chegara ao fim. As velhas tábuas do soalho rangiam sob os nossos passos.
- Espero que tenhas lavado os pés - comentou Louise quando chegámos à última porta, que estava fechada.
- Que acontecerá se não os tiver lavado?
- Giaconelli não dirá nada, mas ficará desapontado, mesmo que não o aparente.
Bateu à porta e abriu-a.
Um velho estava sentado a uma mesa onde se viam filas de utensílios muito bem ordenados, curvado sobre uma forma parcialmente coberta de pele. Usava óculos e era
completamente calvo, tirando uns escassos cabelos na parte de trás da cabeça. Era muito magro, uma daquelas pessoas que dão a sensação de serem mais ou menos desprovidas
de peso. Na sala não havia mais nada além daquela mesa. As paredes eram despidas, não havia prateleiras com formas, nada além de paredes de madeira nua. A música
vinha de um rádio que repou-I sava sobre o parapeito de uma das janelas. Louise inclinou-se para o velho e beijou-o no cocuruto careca. Ele pareceu deliciado por
a ver e afastou cuidadosamente o sapato castanho em que estava a trabalhar.
- Este é o meu pai - disse a minha filha. - Regressou, ao fim destes anos todos.
- Um bom homem regressa sempre - afirmou Giaconelli. Tinha um sotaque cerrado.
Levantou-se e apertou-me a mão.
- Tem uma filha muito bonita - disse ele. - Além de que é uma excelente pugilista. Ri muito e ajuda-me sempre que preciso de auxílio. Porque tem andado escondido?
Continuava a agarrar-me na mão. Apertava-a cada vez com mais força.
- Não tenho andado escondido. Não sabia que tinha uma filha.
- Lá bem no fundo, um homem sabe sempre se tem um filho ou não. Mas apareceu. Louise está feliz. Não preciso de saber mais nada. Ela esperou muito que você atravessasse a floresta para a
125
visitar. Talvez tenha estado a caminho, estes anos todos, sem se dar conta? É tão fácil perdermo-nos dentro de nós próprios como num bosque ou na cidade.
Fomos para a cozinha de Giaconelli. Ao contrário da sua ascética oficina, a cozinha estava atulhada com panelas de todos os tamanhos e feitios, ervas secas, tranças de alhos suspensas do teto, candeias de parafina e filas de frascos com especiarias encavalitados em prateleiras lindamente trabalhadas. No meio do compartimento havia uma mesa grande e pesada. Giaconelli viu-me a olhar para ela e passou a mão sobre a superfície polida.
- Faia - explicou. - A madeira maravilhosa da qual faço as minhas formas. Dantes encomendava madeira de França. Não é possível fazer formas de qualquer outra madeira:
as faias crescem em terrenos ondulados, toleram a sombra e não são afetadas por variações climáticas grandes e inesperadas. Costumava escolher pessoalmente as árvores a cortar. Escolhia-as dois ou três anos antes de precisar de reabastecer as minhas reservas. Eram sempre abatidas durante o inverno e cortadas em comprimentos de um metro e oitenta, nunca mais, ficando guardadas ao ar livre durante longos períodos. Quando me mudei para a Suécia, encontrei um fornecedor em Skâne. Já não tenho idade nem forças para me deslocar para sul e escolher as árvores pessoalmente. Isso entristece-me. Mas hoje em dia também faço cada vez menos formas. Ando pela minha casa e pergunto-me por quanto mais tempo continuarei a fazer sapatos. O homem que escolhe as árvores que corta para mim ofereceu-me esta mesa quando festejei os meus noventa anos.
O velho mestre convidou-nos a sentar e foi buscar uma garrafa de vinho tinto metida num invólucro de ráfia. Encheu-nos os copos com as mãos trémulas.
- Um brinde ao pai que apareceu! - exclamou, erguendo o copo. O vinho era muito bom. Apercebi-me de que sentira a falta de
uma coisa nos anos que passara sozinho na minha ilha: beber vinho com amigos.
Giaconelli pôs-se a contar histórias notáveis acerca dos muitos sapatos que fizera ao longo dos anos, de clientes que voltavam
126
sempre para comprar mais e dos filhos desses clientes, que apareciam à sua porta depois de os pais terem falecido. Mas a maior parte das suas histórias era acerca dos pés que vira e medira antes de fazer as suas formas, e de como os meus pés já me teriam transportado ao longo de cerca de cento e noventa mil quilómetros. Acerca da importância do osso do tornozelo, talus, para a força do pé. Fascinou-me ao falar do pequeno osso cuboide, os cuboideum, aparentemente insignificante. Parecia saber tudo o que havia para saber acerca dos ossos e músculos do pé. Reconheci muito daquilo que ele dizia dos meus tempos de estudante de medicina, tal como as estruturas anatómicas incrivelmente engenhosas, como todos os músculos do pé são pequenos para proporcionar força, resistência e flexibilidade.
Louise disse que queria que ele fizesse um par de sapatos para mim. Ele anuiu solenemente e observou-me o rosto durante vários segundos, antes de concentrar o seu interesse nos meus pés. Empurrou para o lado um prato de barro com amêndoas e outro com nozes, e pediu-me que me pusesse em pé em cima da mesa.
- Por favor descalce os sapatos e as meias. Sei que alguns sapateiros modernos medem os pés com as meias calçadas, mas sou antiquado. Quero ver o pé nu, nada mais.
Nunca me ocorrera que um dia teria alguém a medir-me os pés para me fazer um par de sapatos. Calçado é uma coisa que se experimenta numa loja. Hesitei, mas acabei por tirar os meus sapatos gastos, descalçar as meias e subir para a mesa. Giaconelli olhou para os meus sapatos com uma expressão preocupada. Era evidente que Louise já estivera presente noutras ocasiões em que o italiano media os pés de clientes, pois retirou-se para uma sala adjacente e regressou trazendo folhas de papel, uma prancheta e um lápis.
Era como passar por um ritual. Giaconelli examinou os meus pés, percorreu-os com os dedos e perguntou se me sentia bem.
- Creio que sim.
- Está de perfeita saúde?
- Tenho uma dor de cabeça.
- Tem os pés em bom estado?
- Bem, pelo menos não me doem.
127
- Não estão inchados?
- Não.
- O mais importante, para fazer sapatos, é medir os pés em circunstâncias calmas, nunca à noite, nunca com luz artificial. Só quero ver os seus pés se estiverem em boas condições.
Comecei a pensar se não estaria a ser objeto de uma partida. Mas Louise parecia muito séria e estava pronta para começar a tomar notas.
Giaconelli levou duas horas a dar por terminado o exame dos meus pés e a compilar uma lista das várias medidas necessárias à criação das minhas formas e, posteriormente, dos sapatos com que a minha filha tanto queria presentear-me. Ao longo dessas duas horas, fiquei a saber que o mundo dos pés é mais complicado e abrangente do que se podia julgar. Giaconelli passou séculos à procura do eixo longitudinal teórico que ditaria se o meu pé esquerdo e, depois, o meu pé direito apontavam para fora ou para dentro. Examinou a almofada e o peito de cada pé, e investigou eventuais deformações características: se eu tinha o pé chato, se algum dos mindinhos era excessivamente proeminente, se os dedos grandes eram mais altos do que o habitual, aquilo que se chamava dedos em martelo? Concluí que havia uma regra de ouro, que Giaconelli seguia meticulosamente: obtinha-se os melhores resultados utilizando os instrumentos de medição mais simples. Limitou-se a dois saltos de sapatos e a uma fita métrica de sapateiro. A fita métrica era amarela e tinha duas escalas. A primeira era utilizada para medir o pé em antigos pontos franceses, uma medida equivalente a 6,66 milímetros. A outra media a largura e a circunferência do pé utilizando o sistema métrico, em centímetros e milímetros. Giaconelli também se serviu
de um antigo esquadro. Pus-me de pé em cima da folha de papel índigo e ele traçou uma linha em redor do pé com um simples lápis. Falava constantemente, tal como os velhos médicos de que me lembrava, quando começara o meu estágio em cirurgia - descrevendo com exatidão o que estavam a fazer e comentando cada incisão, o fluxo sanguíneo e o estado geral do paciente. Enquanto traçava o contorno dos meus pés, Giaconelli
128
explicou que o lápis tinha de estar num ângulo exato de noventa graus relativamente ao papel; se o ângulo fosse menor, especificou, no seu sueco com sotaque cerrado, os sapatos ficariam um número
abaixo do que deviam.
Traçou o contorno de cada pé com o seu lápis, começando sempre
pelo calcanhar e seguindo pelo interior do pé até ao dedo grande, depois ao longo das pontas dos dedos e de novo até ao calcanhar, pelo lado de fora do pé. Deu-me
instruções para premir os dedos com força no chão. Utilizou o termo "chão", embora eu estivesse de pé em cima da mesa, sobre uma folha de papel. No que dizia respeito
a Giaconelli, estava-se sempre no chão e em nenhum outro sítio.
- Uns bons sapatos ajudam-nos a esquecer os pés - declarou ele. - Ninguém viaja através da vida em cima de uma mesa ou de uma folha de papel. Os pés e o chão estão ligados.
Como o pé esquerdo e o pé direito nunca são idênticos, é essencial desenhar o contorno de ambos. Quando os contornos ficaram prontos, Giaconelli marcou a localização da primeira e da quinta falanges, bem como os pontos mais proeminentes da almofada do pé e do calcanhar. Desenhava muito devagar, como se não seguisse apenas a forma do meu pé, mas estivesse a prestar também atenção a um processo interno, do qual eu nada sabia e apenas podia tentar adivinhar. Notara essa mesma característica nos cirurgiões que admirava.
Quando finalmente tive autorização para descer da mesa, o processo repetiu-se do princípio ao fim, comigo sentado numa velha cadeira de vime. Parti do princípio de que Giaconelli a tinha trazido consigo de Roma, quando decidira continuar a criar as suas obras-primas nas profundezas das florestas nórdicas. Manifestou o mesmo grau de precisão meticulosa, mas desta vez não falou: em vez disso, pôs-se a trautear árias da ópera que estava a ouvir quando Louise e eu chegáramos a sua casa.
Por fim, quando as medições terminaram e pude calçar novamente as meias e os meus sapatos velhos e gastos, bebemos outro copo de vinho. Giaconelli parecia fatigado, como se as medições o tivessem deixado exausto.
- Sugiro um par de sapatos pretos com um laivo de violeta - disse Giaconelli - e um padrão perfurado nas gáspeas. Usare-
129
mos dois tipos diferentes de pele, de modo a apresentar o desenho discretamente, mas dando-lhe um toque pessoal. Tenho uma pele para a gáspea que foi curtida há duzentos anos. Isso conferirá algo especial em termos de cor e subtileza.
Serviu-nos outro copo de vinho, esvaziando a garrafa.
- Os sapatos estarão prontos daqui a um ano - disse ele. - De momento estou ocupado com um par para um cardeal do Vaticano. Também me comprometi a fazer um par de sapatos para Keskinen, o maestro, e prometi à diva Klinkova uns sapatos adequados para os seus concertos de Lieder românticos. Poderei começar os seus daqui a oito meses e estarão prontos dentro de um ano.
Despejámos os nossos copos. Ele apertou-nos a mão a ambos e retirou-se. Quando saímos pela porta da frente, já se ouvia de novo música vinda da sala que lhe servia de oficina.
Tinha conhecido um mestre artesão que vivia numa aldeia abandonada nas vastas florestas do norte. Muito longe de áreas urbanas viviam pessoas com capacidades maravilhosas e inesperadas.
- Um homem notável - comentei, enquanto nos dirigíamos para o carro.
- Um artista - retorquiu a minha filha. - Os seus sapatos são incomparáveis. Impossíveis de imitar.
- Porque veio ele para aqui?
- A cidade estava a dar com ele em doido. As multidões, a impaciência que não lhe dava paz e sossego para fazer o seu trabalho. Vivia na Via Salandra. Tomei há algum tempo a decisão de lá ir, para ver o local que ele deixou para trás.
O crepúsculo adensava-se à nossa volta. Quando nos aproximámos de uma paragem de camioneta, Louise pediu-me para encostar à berma e parar.
A floresta chegava mesmo à beira da estrada. Fitei-a.
- Porque paramos?
Ela estendeu a mão. Peguei-lhe. Ficámos sentados no carro, em silêncio. Um camião carregado de toros passou com estrondo, levantando uma nuvem de neve.
130
- Sei que revistaste a minha caravana enquanto estivemos fora. Não me importo. Nunca conseguirás descobrir os meus segredos em gavetas ou prateleiras.
- Vi que escreves cartas e, por vezes, recebes resposta. Mas não devem ser as respostas que desejarias?
- Recebo fotografias autografadas de políticos a quem acuso de crimes. A maioria responde evasivamente, outros não respondem de todo.
- Que esperas conseguir?
- Fazer uma diferença tão pequena que nem sequer é perce-tível. Mas não deixa de ser uma diferença.
Tinha muitas perguntas para lhe fazer, mas ela interrompeu-me antes que eu tivesse tempo para as formular.
- Que queres saber a meu respeito?
- Levas uma vida estranha, aqui na floresta. Mas talvez não seja mais estranha que a minha. Tenho dificuldade em fazer-te as perguntas para as quais gostava de ter resposta. No entanto, às vezes posso ser bom ouvinte. Um médico tem de o ser.
Louise ficou sentada em silêncio por um bocado, antes de começar a falar.
- Tens uma filha que esteve na prisão. Foi há onze anos. Não tinha cometido qualquer crime violento. Apenas fraude.
Entreabriu a porta e ficou imediatamente frio dentro do carro.
- Estou a contar-te os factos - disse ela. - Parece que tu e a mãe mentiram um ao outro. Não quero ser como vocês.
- Éramos novos - repliquei. - Nenhum de nós sabia o suficiente sobre si próprio para fazer sempre o que devia. Por vezes, pode ser muito difícil proceder de acordo
com a verdade. É muito mais fácil dizer mentiras.
- Quero que saibas que tipo de vida vivi. Em criança, sentia-me como se tivesse sido trocada na maternidade. Ou, se preferires, como se tivesse ficado aboletada
com a minha mãe por acaso, enquanto esperava pelos meus verdadeiros pais. Ela e eu estávamos em guerra. Deves saber que não é fácil viver com Harriet. É algo a que
escapaste.
- Que aconteceu?
Louise encolheu os ombros.
131
- As habituais histórias de terror. Uma coisa após a outra. Cheirar cola, emagrecimento, drogas, baldas à escola. Mas não me deitou abaixo, consegui safar-me. Recordo
esse período da minha vida como um constante jogo de cabra-cega. Uma vida passada com um lenço atado sobre os olhos. Em vez de ajudar, a minha mãe não fazia
senão ralhar-me. Tentou criar uma atmosfera de amor entre nós gritando comigo. Saí de casa logo que pude. Estava apanhada numa rede de sentimentos de culpa. Depois
vieram as fraudes e os enganos e, no fim, fui presa. Sabes quantas vezes Harriet foi visitar-me na prisão?
- Não?
- Uma. Pouco antes de ser libertada. Só para ter a certeza de que eu não tencionava voltar para casa dela. Não nos falámos durante cinco anos, depois disso. Demorou muito para que voltássemos a entrar em contacto uma com a outra.
- Que aconteceu?
- Conheci Janne, que era daqui, do norte. Um dia, acordei para dar com ele morto na cama, ao meu lado. O funeral realizou-se numa igreja não muito longe daqui. A família dele veio. Não conhecia nenhum deles. Sem qualquer aviso, pus-me em pé e anunciei que queria cantar uma canção. Não sei onde fui buscar coragem. Talvez estivesse zangada por perceber que estava de novo sozinha, e talvez estivesse aborrecida com aqueles familiares que não tinham aparecido quando Janne precisava deles. A única canção de que me lembrava era a primeira estrofe de Sailing. Cantei-a duas vezes e, em retrospetiva, acho que foi a melhor coisa que fiz na vida. Quando emergi da igreja e vi aquelas florestas aparentemente intermináveis de Hãlsningland, tive a sensação de que era este o meu lugar, entre as árvores e o silêncio. Foi por isso que vim parar aqui. Não foi nada planeado, aconteceu, simplesmente. Por estes lados, toda a gente está a partir e a rumar às cidades. Mas eu voltei as costas à vida urbana. Encontrei aqui pessoas de cuja existência não fazia a menor ideia. Ninguém me tinha falado delas.
Interrompeu-se e anunciou que estava demasiado frio no carro para continuarmos a falar. Tive a impressão de que o que ela dissera
132
era como a informação na contracapa de um livro. Um resumo de uma vida vivida até àquele momento. Ainda não sabia de facto nada acerca da minha filha. Mas ela começara a contar-me. Liguei o motor. Os faróis iluminaram a escuridão.
- Queria que soubesses - disse ela. - Uma coisa de cada vez.
- Não faz mal que demore o tempo que for preciso - respondi. - A melhor maneira de se conhecer outra pessoa é passo a passo. Isso aplica-se tanto a ti como a mim. Se se avançar demasiado depressa, pode-se colidir ou naufragar.
- Como acontece no mar?
- O que não se vê é aquilo em que se repara demasiado tarde. Isso não se aplica apenas a canais de navegação sem marcas, no mar, aplica-se também às pessoas.
Arranquei e prosseguimos o nosso caminho pela estrada principal. Por que não lhe falara acerca da catástrofe que arruinara a minha vida? Talvez fosse apenas por
uma questão de exaustão e confusão, em resultado das revelações surpreendentes dos últimos dois dias. Dir-lhe-ia em breve, mas ainda não. Era como se ainda estivesse
preso naquele momento em que emergira do meu buraco no gelo, tivera a sensação de que estava alguma coisa atrás de mim, olhara em redor e vira Harriet apoiada ao
seu andarilho.
Encontrava-me nas profundezas das melancólicas florestas do norte da Suécia. Contudo, a maior parte de mim continuava no buraco no gelo.
Quando chegasse a casa, se o degelo ainda não tivesse começado e a camada de gelo ainda se mantivesse, levar-me-ia muito tempo a abrir novamente o buraco.
133
CAPÍTULO 4
Os feixes de luz dos faróis e as sombras dançavam sobre a neve.
Apeámo-nos sem falar. O céu estava estrelado e sem nuvens; fazia mais frio e a temperatura continuava a descer. Uma luz fraca escoava-se pelas janelas da caravana.
Quando entrámos, percebi pela respiração de Harriet que algo não estava bem. Não consegui acordá-la. Tomei-lhe o pulso: estava rápido e irregular. Tinha o meu monitor de tensão arterial no carro. Pedi a Louise que o fosse buscar. Tanto os valores diastólico como sistólico de Harriet estavam demasiado elevados.
Transportámo-la para o meu carro. Louise perguntou o que tinha acontecido. Disse-lhe que tínhamos de levar Harriet para um serviço de urgências hospitalar, onde pudessem examiná-la como deve ser. Talvez tivesse sofrido um AVC, talvez tivesse acontecido algo relacionado com o seu estado geral. Não sabia.
Conduzimos na noite até Hudiksvall. O hospital estava à espera, parecendo um transatlântico iluminado. Fomos recebidos por duas enfermeiras simpáticas na entrada das Urgências; Harriet recuperara a consciência e, pouco depois, chegou um médico para a examinar. Embora Louise me olhasse com uma expressão estranha, não referi o facto de também ser médico, ou, pelo menos, de o ter sido. Limitei-me a informar que Harriet tinha cancro e os dias contados. Tomava medicação para acalmar as dores, nada mais. Escrevi os nomes dos medicamentos num papel e entreguei-o ao médico.
Esperámos enquanto o médico, que tinha aproximadamente a minha idade, efetuava o exame. Quando terminou, disse-nos que
134
ela ficaria no hospital durante a noite, em observação. Não tinha encontrado nada de específico, que pudesse ter causado aquela rea-ção; presumivelmente, esta dever-se-ia a um agravamento do seu estado geral.
Harriet adormecera de novo quando a deixámos e saímos mais uma vez para a escuridão da noite. Já passava das duas da manhã.
O céu continuava límpido. Louise deteve-se abruptamente.
- Ela vai morrer? - perguntou.
- Não me parece que já esteja pronta para morrer. É uma mulher rija. Se é suficientemente forte para atravessar o gelo com o andarilho, suponho que lhe resta ainda
muita força. Creio que nos dirá, quando chegar a altura.
- Fico sempre com fome quando estou assustada - disse Louise. - Há pessoas que ficam doentes, mas eu tenho simplesmente de comer.
Metemo-nos no carro gelado.
Tinha reparado numa hamburgueria que ficava aberta toda a noite, à entrada da cidade. Fomos até lá. Um grupo de jovens com excesso de peso e a cabeça rapada, lembrando teddy boys dos remotos anos cinquenta, estava sentado à volta de uma das mesas. Estavam todos bêbedos, tirando um; havia sempre alguém que se mantinha sóbrio para conduzir. Um Chevrolet grande e muito bem polido estava estacionado à porta. Quando passámos pela mesa deles, sentimos um forte cheiro a brilhantina.
Para minha grande surpresa, ouvi-os falar de Jussi Bjõrling. Louise também reparara na sua conversa embriagada, em voz muito alta. Apontou discretamente para um dos quatro homens. Usava brincos de ouro, tinha uma barriga de cerveja, que lhe caía sobre as calças de ganga, e molho de salada espalhado à volta da boca.
- Bror Olofsson - disse-me, quase num sussurro. - O gang intitula-se Irmãos Bror. Bror tem uma magnífica voz quando canta. Quando era miúdo, cantava solos no coro da igreja. Mas deixou tudo isso quando se tornou adolescente e rebelde. Há quem pense que ele podia ter ido longe, talvez até tornar-se cantor de ópera.
135
- Porque é que não há pessoas normais cá em cima? - perguntei, enquanto estudava o menu. - Porque é que toda a gente que conhecemos é tão invulgar? Italianos que fazem sapatos, ou um teddy boy retro que fala de Jussi Bjõrling?
- Não há pessoas normais - retorquiu ela. - Isso é uma visão destorcida do mundo, em que os políticos querem que acreditemos. Que fazemos todos parte de uma interminável massa de normalidade, sem possibilidade, quanto mais desejo, de afirmar que somos diferentes. Pensei muitas vezes que devia escrever aos políticos suecos. A equipa secreta.
- Que equipa?
- E assim que lhe chamo. Os que detêm o poder. Os que recebem as minhas cartas, mas nunca lhes respondem. Limitam -se a enviar fotografias de pin-up. A equipa secreta
que detém todo o poder.
Mandou vir algo que se chamava Escudela Real, enquanto eu me contentei com um café grande, um pacote de batatas fritas pequeno e um hambúrguer. Louise estava mesmo com fome. Dava a impressão de querer meter na boca tudo que estava no prato de uma só vez.
Não era bonito de se ver. As suas maneiras à mesa envergonha-ram-me.
É como uma criança pobre, pensei. Lembrei-me de uma viagem que tinha feito ao Sudão, com um grupo de ortopedistas, com o objetivo de encontrar a melhor maneira de montar clínicas para as vítimas de minas terrestres que precisavam de membros artificiais. Vi essas crianças sem vintém atirarem-se à sua comida com um desespero
extremo; uns poucos grãos de arroz, um único legume e talvez um biscoito enviado por um país bem intencionado, dedicado a ajudar o Terceiro Mundo.
Além dos quatro teddy boys saídos de uma época passada, havia uns quantos motoristas de camião espalhados pelo restaurante. Debruçavam-se sobre os seus tabuleiros vazios, como se estivessem a dormir ou a contemplar a sua própria mortalidade. Havia também duas raparigas muito novas: não podiam ter mais de catorze ou quinze anos. Estavam sentadas, a segredar uma à outra,
136
irrompendo ocasionalmente às gargalhadas, para logo voltarem aos segredos. Lembrava-me daquela atmosfera, de todas as certezas confidenciais de que falamos e nos sentimos seguros quando somos adolescentes. Todos fizemos promessas, mas logo as quebrámos, prometemos guardar segredos, mas divulgámo-los o mais depressa possível.
No entanto, elas eram demasiado novas para estarem ali a meio da noite. Fiquei chocado. Não deviam estar na cama? Louise percebeu para onde eu estava a olhar. Devorara
a sua opípara refeição antes de eu ter tirado sequer a tampa de plástico do meu café.
- Nunca as tinha visto - disse ela. - Não são destes lados.
- Estás a dizer que conheces toda a gente que vive nesta cidade.
- Sei, simplesmente.
Tentei beber o café, mas era demasiado amargo. Parecia-me que devíamos voltar para a caravana e tentar dormir algumas horas antes de regressarmos ao hospital. Mas ficámos onde estávamos até de madrugada. Por essa altura, já os teddy boys tinham ido embora. Bem como as duas raparigas. Não dei pela saída dos motoristas de camião:
de repente, já lá não estavam. Louise também não reparara quando eles tinham saído.
- Algumas pessoas são como aves migratórias - declarou. - As vastas distâncias que cobrem são sempre percorridas durante a noite. Levantaram voo sem que déssemos por eles.
Mandou vir uma chávena de chá. Os dois homens de pele escura que estavam atrás do balcão falavam sueco de uma maneira difícil de compreender, depois passavam para uma língua que era muito melódica, mas cheia de melancolia. De vez em quando, Louise perguntava-me se não deveríamos voltar para o hospital.
- Têm o número do teu telemóvel, se acontecer alguma coisa - respondia-lhe. - Mais vale ficarmos aqui.
O que tínhamos em perspetiva era uma conversa ilimitada, uma crónica que abrangia quase quarenta anos. Talvez aquela ham-burgueria, com as suas luzes de néon e o seu cheiro a fritos, fosse o ambiente de que precisávamos?
Louise continuou a falar-me da sua vida. A certa altura, sonhara tornar-se alpinista. Quando lhe perguntei porquê, disse que era por ter medo das alturas.
137
- Seria uma ideia assim tão boa? Ficar suspensa de cordas, numa face de rocha lisa, quando tens medo de subir um escadote?
- Pensei que ganharia mais com isso do que as pessoas que não têm medo das alturas. Tentei, uma vez, na Lapónia. Não era um penhasco muito íngreme, mas os meus
braços não eram suncientemente fortes. Enterrei os meus sonhos de alpinismo nas urzes do extremo norte. Quando cheguei a Sundvall, que não era assim tão longe,
sejamos francos, já tinha deixado de chorar o meu sonho abandonado e resolvido tornar-me malabarista.
- E como correu isso?
- Ainda consigo manter três bolas no ar durante bastante tempo. Ou três garrafas. Mas nunca fui tão boa como desejava.
Esperei o que se seguiria. Alguém abriu a porta, que rangia e deixou passar um jorro de ar frio antes de voltar a fechar-se.
- Julguei que nunca conseguiria encontrar o que procurava. Sobretudo porque não sabia o que era. Ou talvez seja mais exato dizer que sabia o que queria, mas não acreditava que viesse jamais a consegui-lo.
- Um pai ? Ela anuiu.
- Tentava encontrar-te em jogos. Cada décimo primeiro homem com quem me cruzava na rua era o meu pai. A meio do verão, todas as raparigas suecas escolhem sete flores silvestres diferentes e põem-nas debaixo da almofada, para sonharem com o homem com quem irão casar. Apanhei montanhas e montanhas de flores para te ver. Mas tu nunca apareceste. Lembro-me de ter ido a uma igreja, certa vez. Havia uma imagem no altar, Jesus a subir num feixe de luz que parecia sair de baixo dele. Dois soldados romanos estavam ajoelhados, aterrorizados com o que tinham feito ao pregá-lo à cruz. Tive imediatamente a certeza de que um daqueles soldados eras tu. A cara dele era igual à tua. Da primeira vez que te vi, tinhas um elmo na cabeça.
- Harriet não tinha fotografias?
- Perguntei-lhe. Rebusquei as coisas todas dela. Não havia nenhuma.
138
- Tirámos imensas fotografias um ao outro. Era sempre ela I quem guardava e tratava dos nossos instantâneos.
- Disse-me que não havia fotografias. Se as queimou a todas, é a ti que terá de responder por isso.
Foi buscar mais chá. Um dos homens que trabalhava na cozinha estava sentado no chão, encostado à parede, a dormir profundamente, com o queixo descaído.
Com que estaria a sonhar?
Agora a história da vida de Louise versava cavalos e cavaleiros.
- Nunca tivemos dinheiro suficiente para pagar aulas de equitação. Nem mesmo quando Harriet foi promovida a gerente de uma sapataria, com um salário melhor. Às vezes ainda fico zangada ao lembrar-me de como ela era mesquinha. Assistia sempre às aulas, mas do lado errado da cerca: tinha de ficar lá fora, a ver as outras raparigas a cavalgar como pequenas guerreiras. Tinha a sensação de ser obrigada a desempenhar simultaneamente o papel de cavalo e de cavaleiro. Dividia-me em duas partes: uma era o cavalo, a outra era o cavaleiro. Quando me sentia bem e não tinha dificuldade em levantar-me de manhã, montava o cavalo e não havia qualquer divisão na minha vida. Mas quando não me apetecia sair da cama, era como se fosse o cavalo e me tivesse refugiado num canto do cercado, recusando-me a reagir por muito que me chicoteassem. Tentava sentir que o cavalo e eu éramos um só. Creio que fazer isso me ajudou a sobreviver a todas as dificuldades que sofri na infância. Talvez também mais tarde. Sento-me no meu cavalo e o cavalo leva-me... tirando quando salto para o chão de minha livre vontade.
Calou-se abruptamente, como se lamentasse ter dito o que dissera.
Deram as cinco da manhã. Éramos os únicos clientes. O homem encostado à parede continuava a dormir. O outro enchia, lenta e laboriosamente, os açucareiros semivazios.
Do nada, Louise exclamou:
- Caravaggio! Não faço ideia por que motivo comecei a pensar nele, nas suas explosões furiosas e nas suas facas ameaçadoras. Talvez porque, se tivesse vivido no nosso tempo, podia muito bem ter pintado esta hamburgueria e pessoas como tu e eu.
139
Caravaggio, o pintor? Não conseguia recordar nenhum dos seus quadros, mas reconhecia o nome. Uma impressão vaga de cores escuras, sempre com motivos dramáticos, penetrou no meu cérebro cansado.
- Não sei nada acerca de arte.
- Eu também não. Mas uma vez vi um quadro de um homem com uma cabeça decapitada na mão. Quando percebi que o artista tinha representado a sua própria cabeça, senti que tinha de saber mais a seu respeito. Tomei a decisão de visitar todos os locais onde os seus quadros estavam expostos. Ver reproduções em livros não bastava. Em vez de fazer uma peregrinação a mosteiros ou igrejas, comecei a seguir as pisadas de Caravaggio. Assim que poupei dinheiro suficiente, parti para Madrid e depois para outros sítios onde se podia ver os seus quadros. Vivia do modo mais económico possível, por vezes dormindo mesmo ao relento, em bancos de jardim. Mas vi os seus quadros, conheci as pessoas que ele pintou e transformei-as em minhas companheiras. No entanto, ainda me falta muito. Podes pagar as viagens que ainda tenho de fazer.
- Não sou rico.
-Julgava que os médicos eram bem pagos?
- Há muitos anos que deixei de exercer medicina. Estou reformado.
- Sem dinheiro no banco?
Não acreditaria em mim? Concluí que era a hora da manhã (ou da noite) e o ambiente abafado que estavam a tornar-me desconfiado. As lâmpadas cilíndricas de néon do teto não nos iluminavam, antes olhavam para as nossas cabeças, vigiando-nos.
Ela continuou a falar de Caravaggio e, por fim, comecei a compreender um pouco da paixão que a dominava. Ela mesma era um museu, criando lentamente cada sala com a sua própria interpretação do trabalho da vida do grande pintor. No que lhe dizia respeito, ele não era alguém que vivera há mais de quatrocentos anos, mas uma pessoa que se anichava numa casa abandonada, nas florestas que rodeavam a sua caravana.
As primeiras aves madrugadoras começaram a aparecer no bar. Dirigiam-se para o balcão e liam o menu. Combinado Monstro, Mega-
140
-Monstro, Mini-Monstro, Menu da Coruja. Ocorreu-me que havia histórias importantes a contar, mesmo em restaurantes manhosos como aquele. Por um momento, aquele local desagradável e mal-cheiroso transformou-se numa galeria de arte.
A minha filha falava acerca de Caravaggio como se ele fosse um parente próximo, um irmão ou um homem por quem estivesse apaixonada e com quem sonhasse viver.
Nascera Michelangelo Merisi da Caravaggio. O seu pai, Fermi, morrera quando ele tinha seis anos. Mal se lembrava dele; o pai era apenas uma das sombras da sua vida, um retrato inacabado numa das suas grandes galerias interiores. A mãe viveu bastante mais tempo, até ele completar dezanove anos. Mas não inspirava mais do que silêncio, uma fúria rancorosa, sem som.
Louise falou de um retrato de Caravaggio feito por um artista chamado Leoni, utilizando giz vermelho e preto. Era como um dos antigos cartazes da polícia com a palavra "Procurado", colado na parede de uma casa. Vermelho e preto, carvão e sangue. Olha-nos da pintura, atento, evasivo. Existiremos mesmo, ou seremos meros frutos da sua imaginação? Tem cabelo escuro, barba, um nariz imponente, olhos com sobrancelhas muito arqueadas; um homem atraente, diziam alguns. Outros insistiam que nada tinha de notável, que não passava de um criminoso, a transbordar de violência e ódio, apesar da sua enorme capacidade para representar pessoas e movimento.
Como se estivesse a recitar uma estrofe de um cântico aprendido de cor, Louise citou um cardeal, cujo nome talvez fosse Borromeo - não tenho a certeza de ter ouvido bem. Esse cardeal escreveu: "Tomei conhecimento de um artista, em Roma, cuja conduta era reprovável, tinha hábitos repugnantes e envergava sempre roupas andrajosas e nojentas. Este pintor, que era notório pelos seus modos conflituosos e pela sua brutalidade, produzia arte desprovida de significado. Utilizava os seus pincéis apenas para pintar tavernas, bêbedos, profetisas matreiras e atores. Por muito incompreensível que seja, tinha prazer em retratar essa gente desgraçada."
Caravaggio era um artista supremamente dotado, mas também um homem muito perigoso. Tinha um temperamento violento e passava a vida a meter-se em sarilhos. Lutava com os punhos e, por
141
vezes, com facas, e uma vez matou um homem, em resultado de uma discussão acerca de um ponto num jogo de ténis. Mas, acima de tudo, era perigoso porque, nos seus
quadros, confessava ter medo. O facto de não esconder o seu medo nas sombras tornava-o - e ainda o torna - perigoso.
Louise falava de Caravaggio e também falava de morte. E visível em todos os seus quadros, no buraco feito por uma larva numa maçã pousada no topo de um cesto de fruta, ou nos olhos de alguém que está prestes a ser decapitado.
Louise disse que Caravaggio nunca tinha encontrado o que procurava. Contentava-se sempre com outra coisa qualquer. Tal como os cavalos que pintava, cujas bocas espumantes eram uma expressão da raiva que ele tinha dentro de si.
Pintara tudo. Mas nunca pintara o mar.
Louise disse que se sentia tão profundamente tocada pelo trabalho dele porque lhe proporcionava um sentimento de proximidade. Havia sempre um espaço nos quadros onde ela podia colocar-se. Podia ser uma das pessoas representadas na tela e não tinha de recear que a expulsassem. Procurara muitas vezes consolo nos quadros de Caravaggio, nos detalhes pintados com tanto amor, onde as pinceladas se transformavam em pontas dos dedos acariciando os rostos que conjurava nas suas cores escuras.
Louise transformou a hamburgueria malcheirosa numa praia da costa italiana, a 16 de julho de 1609- O calor é opressivo. Caravaggio caminha na areia, algures a norte de Roma, largado na praia qual destroço humano. Uma pequena felucca (o que quer que isso seja, ela não chegou a explicar) levantou ferro. A bordo do navio vão os seus quadros e pincéis, os seus óleos e um saco com as suas roupas e sapatos, sujos e esfarrapados. Está sozinho na areia, o verão romano é de um calor sufocante, talvez uma brisa suave o refresque, ali à beira-mar, mas também há enxames de mosquitos por toda a parte, mosquitos que o picam, injetando veneno na sua corrente sanguínea. Quando se deita na praia, exausto e enrolado sobre si mesmo, nas noites quentes e húmidas, os mosquitos picam-no uma e outra vez, e os parasitas da malária começam a multiplicar-se no seu fígado. O primeiro ataque de febre apanha-o desprevenido.
142
Não sabe que vai morrer, mas os quadros que ainda não pintou e transporta dentro de si, não tardaram a ficar petrificados no seu cérebro. "A vida é um sonho impossível de definir", dissera ele um dia. Ou talvez tivesse sido Louise a inventar aquela verdade poética.
Ouvi-a com uma admiração atónita. Só agora via quem ela realmente era. Tinha uma filha que sabia algo sobre o que significa ser-se humano.
Não tinha mais dúvidas se Caravaggio, falecido há muito, era um dos seus amigos mais chegados. Ela comunicava tão bem com os mortos, como com os vivos. Talvez até melhor.
Continuou a falar até se calar subitamente. O homem atrás do balcão acordara. Bocejou, abrindo um saco de plástico com batatas que despejou na fritadeira.
Ficámos muito tempo sem falar. Depois Louise levantou-se e foi buscar mais chá.
Quando regressou, contei-lhe que tinha amputado o braço errado a uma doente. Não tinha pensado no que ia dizer, as palavras jorraram-me simplesmente da boca, como se fosse inevitável que descrevesse naquele momento o incidente que até então considerara o acontecimento mais significativo da minha vida. A princípio, ela não pareceu compreender que aquilo que lhe contava me acontecera de facto. Mas acabou por se fazer luz no seu espírito. O erro fatal que tivera lugar há doze anos. Fora objeto de uma admoestação. Aquilo não teria sido o fim da minha carreira se eu tivesse aceitado essa admoestação, mas achei que era injusta. Defendi-me, afirmando que fora colocado numa situação impossível. As listas de espera eram cada vez maiores mas, ao mesmo tempo, eram impostas reduções de despesas. Não fazia senão trabalhar, dia após dia. E, certa vez, a rede de segurança falhara. Durante uma operação, pouco depois das nove da manhã, uma mulher nova perdera o braço direito saudável, imediatamente acima do cotovelo. Não era uma operação complicada; não que uma amputação seja jamais um assunto de rotina, mas não havia nada que me alertasse para o facto de ter cometido um erro fatal.
- Como é isso possível? - perguntou Louise, quando acabei de falar.
143
- É possível, apenas - respondi. - Se viveres tempo suficiente, compreenderás que nada é impossível.
- Tenciono viver muito tempo - declarou ela. - Porque estás tão zangado? Porque te tornas tão desagradável?
Abri os braços.
- Não era essa a minha intenção. Talvez esteja cansado. São quase seis e meia da manhã. Passámos a noite toda aqui. Precisamos de umas horas de sono.
- Vamos para casa, então - disse ela, pondo-se em pé. - Não telefonaram do hospital.
Fiquei sentado onde estava.
- Não consigo dormir naquela cama estreita.
- Então eu durmo no chão.
- Não vale a pena irmos para casa. Quando lá chegarmos, serão horas de voltarmos para o hospital.
Ela sentou-se de novo. Via-se que estava tão cansada como eu. O homem atrás do balcão tinha voltado a adormecer, com o queixo a descair-lhe sobre o peito.
As luzes de néon do teto continuavam a observar-nos, como os olhos matreiros de um dragão.
144
CAPÍTULO 5
O nascer do dia foi um alívio.
Voltámos para o hospital às oito e meia. Tinha começado a nevar, mas pouco. O espelho retrovisor mostrou-me o meu rosto fatigado. Fez-me gemer, provocou-me um sentimento
de morte, de inexorabilidade.
Estava num plano descendente, oprimido pelo meu próprio epílogo. Faltavam ainda algumas entradas e saídas, mas não muito mais.
Estava tão absorvido nos meus pensamentos que não dei pela saída para o hospital. Louise olhou para mim, surpreendida.
- Devíamos ter virado à direita ali.
Não respondi. Contornei o quarteirão e virei para a rua certa. Uma das enfermeiras que nos tinha recebido à noite estava à porta das Urgências, a fumar um cigarro. Parecia ter esquecido quem éramos. Noutros tempos, pensei para comigo, podia estar num dos quadros de Caravaggio.
Entrámos. A porta do quarto de Harriet estava aberta. O quarto estava vazio. Uma enfermeira aproximou-se pelo corredor. Pergun-tei-lhe o que se passava com Harriet. Ela olhou-nos da cabeça aos pés. Devíamos parecer um par de bichos-de-conta acabados de sair à luz do dia depois de uma noite passada debaixo de uma pedra fria.
- A Sra. Hõrnfeldt já cá não está - disse ela.
- Para onde a mandaram?
- Não a mandámos para lado nenhum. Foi-se embora. Vestiu-se e desapareceu.
Parecia zangada, como se Harriet a tivesse desiludido pessoalmente.
145
- Mas alguém deve tê-la visto sair, com certeza? - perguntei.
- O pessoal da noite veio vê-la a intervalos regulares, mas quando vieram às sete e um quarto, ela tinha partido. Não podemos fazer nada.
Virei-me para Louise. Esta fez um movimento com os olhos que interpretei como sendo um sinal.
- Ela deixou ficar alguma coisa? - perguntou Louise.
- Não, nada.
- Então deve ter ido para casa.
- Devia ter-nos informado se não queria cá ficar.
- Ela é assim mesmo - replicou Louise. - Aí tem a minha mãe. Saímos pela entrada das Urgências.
- Sei como ela é - disse Louise. - E também sei onde está. Temos uma combinação, que fizemos quando eu era pequena. O café mais próximo é onde nos encontramos. Se nos perdermos uma da outra.
Contornámos o hospital, em direção à entrada principal. No vasto átrio havia um café.
Harriet estava sentada a uma mesa, com uma chávena de café. Acenou quando nos viu. Parecia quase alegre.
- Ainda não sabemos o que se passa contigo - disse-lhe eu, severamente. - Os médicos deviam ter oportunidade de analisar as amostras que recolheram.
- Tenho cancro - retorquiu Harriet - e vou morrer em breve. O tempo é demasiado escasso para o passar numa cama de hospital, a entrar em pânico. Não sei o que aconteceu ontem. Calculo que tenha bebido demais. Agora quero ir para casa.
- Para minha casa ou para Estocolmo?
Harriet apoiou-se ao braço de Louise e pôs-se em pé. O andarilho estava junto de uma banca de jornais. Agarrou nos punhos com os dedos frágeis. Era impossível compreender como conseguira puxar-me da lagoa da floresta.
Quando chegámos à caravana, deitámo-nos os três na cama estreita. Fiquei do lado de fora, com um joelho no chão, e depressa adormeci.
Nos meus sonhos, Jansson aproximava-se no seu hidrocóptero. Abria caminho na minha direção, como uma serra afiada a cortar
146
o gelo. Escondi-me atrás de uma rocha até ele partir. Quando me levantei, vi Harriet no gelo, com o andarilho. Estava nua. Ao seu lado havia um grande buraco no gelo.
Acordei sobressaltado. Elas duas continuavam a dormir. Pensei em pegar no meu casaco e fugir dali. Mas fiquei onde estava. Pouco depois, adormeci de novo.
Acordámos todos à mesma hora. Era uma da tarde. Saí para urinar. Tinha deixado de nevar e as nuvens começavam a afastar-se.
Tomámos café. Harriet pediu-me para lhe medir a tensão, pois doía-lhe a cabeça. Estava apenas ligeiramente acima do normal. Louise quis que lhe medisse a tensão também a ela.
- Uma das minhas primeiras recordações do meu pai será que me mediu a tensão - declarou ela. - Primeiro os baldes de água, agora isto.
Estava muito baixa. Perguntei-lhe se costumava ter tonturas.
- Só quando estou muito bêbeda.
- Nunca noutras ocasiões?
- Nunca na vida desmaiei.
Guardei o monitor de tensão arterial. Tínhamos terminado o café e eram duas e um quarto. Estava calor dentro da caravana. Talvez demasiado calor? Seria o ar abafado, pobre em oxigénio, que as fez perder a cabeça? Qualquer que fosse a causa, fui subitamente atacado de ambos os lados. Começou com Harriet a perguntar-me como me sentia por ter uma filha, agora que já sabia disso há alguns dias.
- Como me sinto? Não creio que seja capaz de responder a isso.
- A tua indiferença é assustadora - disse ela.
- Não sabes nada acerca do que estou a sentir - repliquei.
- Conheço-te.
- Não nos víamos há quase quarenta anos! Não sou o mesmo que era nessa altura.
- És demasiado cobarde para confessar que o que eu estou a dizer é verdade. Nem sequer tiveste coragem para dizer que não querias que continuássemos a ver-nos, nessa altura. Fugiste então e estás a fugir agora. Não consegues dizer a verdade, ao menos uma vez? Não há nem um pedacinho de verdade em ti!
147
Antes que tivesse oportunidade de dizer fosse o que fosse, Louise afirmou que de um homem que abandonara Harriet como eu fizera, dificilmente se podia esperar que reagisse a uma filha inesperada com qualquer outra coisa além de indiferença, talvez medo e, no máximo, um pouco de curiosidade.
- Não posso concordar com isso - retorqui. - Já pedi desculpa pelo que fiz e não podia saber nada acerca da existência de uma filha, porque nunca me disseste.
- Como podia dizer-te, se tinhas fugido?
- No carro, no caminho para a lagoa da floresta, disseste que nunca tinhas tentado encontrar-me.
- Estás a acusar uma moribunda de mentir?
- Não estou a acusar ninguém.
- Diz a verdade! - berrou Louise. - Responde à pergunta dela!
- Que pergunta?
- Porque é que és indiferente.
- Não sou indiferente. Estou satisfeito.
- Não vejo qualquer sinal de satisfação em ti.
- Não há espaço suficiente nesta caravana para dançar em cima da mesa! Se é isso que queres que eu faça.
- Não julgues, nem por um momento, que faço isto por ti - gritou Harriet. - Faço-o por ela.
Gritámos e berrámos. As paredes da caravana acanhada estiveram à beira de cair. Lá no fundo, bem entendido, sabia que elas estavam a dizer a verdade. Tinha atraiçoado Harriet e talvez não tivesse manifestado suficiente felicidade exuberante por conhecer a minha filha. No entanto, aquilo era demais. Não podia aceitar. Não sei quanto tempo continuámos com aquela gritaria sem sentido. Em várias ocasiões, julguei que Louise ia cerrar os seus punhos de pugi-lista e dar-me um valente soco. Nem me atrevo a pensar nos níveis que a tensão arterial de Harriet terá atingido. Por fim, levantei-me, agarrei na minha mala, no meu casaco e nos meus sapatos.
- Vão para o diabo, vocês as duas! - berrei, saindo de rompante da caravana.
Louise não veio atrás de mim. Nenhuma delas disse uma palavra. Ficou tudo em silêncio. Dirigi-me para o carro, de meias,
148
sentei-me ao volante e arranquei. Não parei enquanto não cheguei à estrada principal. Então descalcei as meias ensopadas e calcei os sapatos com os pés nus. Ainda estava irritado com as acusações que me tinham feito.
Durante a viagem, revi os diálogos na minha cabeça, uma e outra vez. Por vezes corrigia o que tinha dito, tornava as minhas respostas mais claras, mais acutilantes. Mas o que elas tinham dito permanecia igual.
Cheguei a Estocolmo a meio da noite, depois de ter conduzido demasiado depressa; dormi um bocado no carro, até ficar cheio de frio, depois segui viagem até Södertälje. Encontrei um motel e adormeci mal pousei a cabeça na almofada. Por volta da uma da tarde seguinte retomei a viagem para sul, depois de ter telefonado a Jans-son e de lhe ter deixado uma mensagem no atendedor de chamadas: podia ir buscar-me às cinco e meia? Não sabia ao certo se ele estava disposto a conduzir às escuras. Fiz figas e torci para que ele ouvisse as mensagens e tivesse uns faróis decentes no seu hidrocóptero. Jansson estava à minha espera quando cheguei ao porto. Disse-me que tinha dado de comer aos animais todos os dias. Agradeci-lhe e expliquei que estava cheio de pressa de ir para casa.
Quando chegámos, ele recusou-se a aceitar qualquer pagamento.
- Não posso cobrar a passagem ao meu médico.
- Não sou o seu médico. Faremos contas da próxima vez que cá vier.
Fiquei no pontão até ele desaparecer atrás das rochas e as luzes do aparelho se desvanecerem. De súbito, apercebi-me que a minha gata e o meu cão estavam sentados no pontão, ao meu lado. Baixei-me para lhes fazer festas. O cão parecia ter emagrecido. Deixei a mochila no pontão; estava demasiado cansado para arrumar as coisas.
Éramos três na ilha, tal como tínhamos sido três na caravana. Mas aqui ninguém me atacaria. Foi um alívio entrar outra vez na minha própria cozinha. Dei de comer aos animais, sentei-me à mesa e fechei os olhos.
Tive dificuldade em dormir nessa noite. Levantei-me várias vezes. Estava lua cheia, o céu límpido. O luar banhava as rochas e o gelo branco. Calcei as minhas botas, vesti o casaco de peles e fui
149
até ao pontão. O cão não deu pela minha saída e a gata abriu um olho, mas não se mexeu do sofá. Estava frio lá fora. A minha mala rebentara, não sei como, e as camisas e peúgas tinham-se espalhado no chão. Pela segunda vez, deixei-as entregues à sua sorte.
Foi nessa altura, de pé no pontão, que compreendi que ainda tinha de fazer outra viagem. Durante doze anos, conseguira convencer-me a mim próprio que não era necessário, mas o encontro com Louise e a nossa longa conversa noturna tinham mudado tudo isso. Era obrigado a empreender essa nova jornada. E agora queria fazê-lo.
Algures na Suécia havia uma jovem que perdera um braço: o braço errado, amputado por mim. Tinha vinte anos quando isso acontecera, portanto agora devia ter trinta e dois. Lembrava-me do seu nome: Agnes Klarstrõm. Ali, no pontão, os detalhes voltaram-me à memória, como se tivesse acabado de reler as notas do seu caso. Vivia num dos subúrbios a sul de Estocolmo, Aspudden ou Bagarmossen. Tudo começara por uma dor no ombro. Era uma nadadora extraordinária e participava em competições. Durante muito tempo, ela e o treinador tinham presumido que a dor se devia a excesso de esforço, mas quando chegou um momento em que ela já não conseguia entrar numa piscina sem sentir dores fortes no ombro, foi ao médico para um exame completo. De seguida tudo aconteceu muito rapidamente: confirmou-se um tumor ósseo maligno e a amputação era a única possibilidade, embora fosse catastrófica para as suas ambições como nadadora. Depois de ter sido campeã de natação, ficaria maneta para o resto da vida.
Nem sequer era eu quem devia operá-la; era doente de um dos meus colegas. Mas a mulher desse colega sofreu um grave acidente de viação, pelo que a sua lista de operações foi distribuída, mais ou menos ao acaso, pelos outros cirurgiões ortopédicos. Agnes Klarstrõm foi-me atribuída.
A operação demorou mais de uma hora. Ainda consigo recordar todos os detalhes, como as enfermeiras do bloco lavaram e prepararam o braço errado. Era responsabilidade minha verificar que a intervenção era feita no braço certo, mas confiava no meu pessoal.
150
Fora há doze anos. Tinha destruído a vida de Agnes Klarstrõm, e a minha também. E, o que tornava tudo ainda pior, é que um exame posterior do braço com o tumor indicara
que a amputação não teria sido necessária.
Nunca me ocorrera que um dia iria visitá-la. A única vez que falara com ela fora imediatamente a seguir à operação, quando ainda estava grogue.
Entretanto eram duas da manhã. Voltei para dentro de casa e sentei-me à mesa da cozinha. Ainda não tinha aberto a porta da sala das formigas. Talvez receasse que elas jorrassem lá de dentro em catadupa, se o fizesse.
Telefonei para as informações, mas não havia ninguém em Estocolmo com esse nome. Pedi à operadora, que disse chamar-se Elin, para ampliar a busca à totalidade da Suécia.
Havia uma Agnes Klarström que podia ser quem eu procurava. Vivia perto de Flen, cerca de cinquenta quilómetros a oeste de Estocolmo. O endereço sugeria uma quinta numa aldeia chamada Sangledsbyn. Tomei nota da morada e do número de telefone.
O cão estava a dormir. A gata estava lá fora, ao luar. Levantei-me e entrei no quarto onde um tapete inacabado permanecia estendido sobre o tear da minha avó. Aquilo sempre fora uma imagem significativa para mim: é esse o aspeto da morte, quando irrompe rudemente e põe fim às nossas vidas. Numa prateleira, onde outrora havia novelos de fio, arrumara vários papéis que guardava há muitos anos. Uma pasta delgada com documentos, desde as minhas notas do fim da escola, bastante fracas, mas que tinham sido fonte de tanto orgulho para o meu pai, que as aprendera de cor, até à amaldiçoada cópia das notas da amputação. A pasta era pouco volumosa porque nunca tive dificuldade em deitar fora papéis que a maioria das pessoas considera importante guardar.
No topo estava o testamento que um advogado, ridiculamente dispendioso, fizera para mim. Agora era obrigado a alterá-lo, porque tinha adquirido uma filha. Mas não era por essa razão que tinha ido ao quarto do tear, que ainda cheirava à minha avó. Peguei nas notas da operação de nove de março de 1991- Abri a folha de papel sobre a mesa, à minha frente, e li-a do princípio ao fim.
151
Cada palavra era como uma pedra afiada a preparar o caminho da minha ruína. Desde as primeiras palavras, Diagnóstico: condrosarcoma do úmero proximal, até à última de todas, Ligar.
Ligar. Era tudo. A operação terminara, a doente foi levada para o recobro. Sem um braço, mas ainda com aquele maldito tumor no osso do outro braço.
Li: Avaliação pré-operatória. Mulher de vinte anos, destra, anteriormente saudável, examinada em Estocolmo devido a intumescência no braço esquerdo. RM mostra condrosarcoma de baixo grau no braço esquerdo. Exame subsequente confirma diagnóstico, paciente concorda com amputação do úmero proximal, que permite margem adequada. Operação: narcose por intubação, posição de solário, braço exposto. Profilaxia habitual com antibióticos. Incisão do processo coracoide ao longo da extremidade inferior do deltóide até à dobra anterior da axila. Laqueação de uma veia cefálica e afastamento do pectoralis. Identificação de estrutura vascular, laqueação de veias e proteção de artérias com laqueação dupla. Extrusão de nervos da ferida e divisão. Separação do músculo deltóide do úmero e do latissimus dorsi e teres major. Separação das cabeças longa e curta do bíceps, e também do coracobraquial ligeiramente abaixo do nível da amputação. Úmero serrado ao nível do colo cirúrgico e limado. Coto coberto por tríceps, que foi separado, e por coracobraquial. Pectoralis cosido ao bordo lateral do úmero, utilizando osteosuturas. Dreno inserido e dobras de pele cosidas sem tensão. Ligar.
Calculo que Agnes Klarstrõm deve ter lido este texto muitas vezes, e pedido que lho explicassem. Deve ter notado que, no meio dos termos latinos, surgia subitamente uma expressão corrente: fora operada em "posição de solário". Como se estivesse estendida numa praia ou varanda, com o braço exposto, e as luzes do bloco operatório como última visão antes de perder a consciência. Tinha-a sujeito a uma injustiça revoltante enquanto ela repousava num solário.
Poderia ser outra Agnes Klarstrõm? Era jovem nessa altura; talvez tivesse casado e tomado o nome do marido? Claro que a lista telefónica não indicava se era menina, senhora, ou se possuía qualquer outro título.
Foi uma noite assustadora, mas crucial. Não podia continuar a fugir. Tinha de falar com ela, explicar o inexplicável. E dizer-lhe que, em vários sentidos, também me amputara a mim próprio.
152
Fiquei deitado na cama por muito tempo, antes de adormecer. Quando voltei a abrir os olhos, já era dia. Jansson não viria entregar I correio hoje. Poderia abrir o meu buraco no gelo sem ser interrompido.
Tive de recorrer a um pé de cabra para penetrar o gelo espesso. O meu cão ficou no pontão, a assistir aos meus esforços. A gata desapareceu na casa dos barcos, à procura de ratos. Por fim, consegui criar um buraco suficientemente grande e saltei para aquele frio I que queimava. Pensei em Harriet e Louise e perguntei-me se teria coragem para telefonar a Agnes Klarstrõm nesse dia e perguntar se era a mulher que procurava.
Não telefonei nesse dia. Em vez disso, entreguei-me a um acesso de atividade frenética e limpei a casa de cima a baixo, pois havia uma espessa camada de pó por toda a parte. Consegui pôr a minha velha máquina de lavar roupa a trabalhar e lavei a roupa de cama, a qual estava tão suja que podia muito bem ter estado um sem-abrigo a dormir na minha cama. Depois fui dar uma volta pela ilha, observei a vastidão gelada com os meus binóculos e aceitei o facto de que tinha de decidir o que fazer a seguir.
Uma mulher parada no gelo, uma filha que desconhecia numa caravana. Aos sessenta e seis anos, era obrigado a aceitar que tudo o que tomara por definitivo e arrumado estava a mudar.
Depois do almoço sentei-me à mesa da cozinha e escrevi duas cartas. Uma para Harriet e Louise, a outra para Agnes Klarstrõm. Jansson ficaria admirado quando lhe entregasse duas cartas. Por uma questão de segurança, colei-as com fita-cola. Não o considerava acima de tentar ler a minha correspondência.
O que escrevi? Disse a Harriet e Louise que a minha fúria já tinha passado. Compreendia-as, mas de momento não me era possível estar com elas. Tinha regressado à minha ilha, para cuidar dos meus animais abandonados. Mas não tinha dúvidas de que nos encontraríamos em breve. As nossas conversas e a nossa relação social tinham de continuar, obviamente.
Demorei muito tempo a escrever aquelas escassas linhas. Quando finalmente me pareceu ter escrito algo que podia ser suficiente, o chão da cozinha estava coberto de folhas de papel amarrotadas.
153
O que escrevera não era verdade. A minha fúria ainda não passara, os meus animais podiam ter sobrevivido mais algum tempo: Jansson ocupar-se-ia disso. Nem tinha a certeza absoluta de querer voltar a vê-las num futuro próximo. Precisava de tempo para refletir. Entre outras coisas, para resolver o que diria a Agnes Klarström, se conseguisse localizá-la.
A carta para Agnes Klarström não demorou muito a escrever. Compreendi que a trazia na cabeça há anos. Só queria encontrar-me com ela, nada mais. Enviei-lhe o meu endereço e assinei; sem dúvida que ela nunca conseguiria esquecer aquele nome. Esperava ter escrito à pessoa certa.
Quando Jansson chegou, no dia seguinte, levantara-se vento. Anotei no meu diário que a temperatura baixara durante a noite e que um vento de tempestade oscilava entre oeste e sudoeste.
Jansson foi pontual. Dei-lhe trezentas coroas por ter ido buscar-me e fiz questão de que ele aceitasse o pagamento.
- Gostaria de enviar estas duas cartas - acrescentei, esten-dendo-lhas.
Tinha colado os quatro cantos de cada carta. Ele não fez qualquer esforço para disfarçar a sua surpresa por eu ter duas cartas na mão.
- Escrevo quando tenho de escrever. Caso contrário, não.
- O postal que me mandou era muito bonito.
- Uma cerca coberta de neve? Que tem isso de bonito? Começava a ficar impaciente.
- Como está a dor de dentes? - inquiri, numa tentativa para disfarçar a minha irritação.
- Vai e vem. É pior aqui, do lado direito. Abriu muito a boca.
- Não vejo nada de errado - declarei. - Consulte um dentista. Jansson tentou fechar a boca. Ouviu-se um estalido. Ficou
com o maxilar preso, a boca meia aberta. Via-se que era doloroso. Tentou falar, mas era impossível compreender o que dizia. Premi suavemente os polegares de ambos os lados do seu rosto, palpando o maxilar, e massajei até ele conseguir fechar de novo a boca.
- Aquilo doeu.
154
- Evite bocejar ou abrir demasiado a boca durante alguns dias.
- Isto é sinal de alguma doença grave?
- Nada disso. Não há motivo de preocupação.
Jansson partiu com as minhas cartas. O vento chicoteava-me o rosto enquanto me dirigia para casa.
Nessa tarde abri a porta da sala das formigas. Dava a impressão de que o formigueiro, em constante crescimento, engolira mais um bocado da toalha. Mas, em termos gerais, a sala e a cama onde Harriet dormira estavam tal e qual como os tínhamos deixado.
Passaram vários dias, sem que nada acontecesse. Caminhei pelo gelo até chegar ao mar aberto. Medi a espessura do gelo em três sítios diferentes. Não precisava de consultar os meus diários antigos para concluir que o gelo nunca fora tão espesso desde que tinha ido viver para a ilha.
Espreitei por baixo da lona e tentei avaliar se poderia algum dia sair de novo para o mar no meu barco. Estaria a seco há demasiado tempo? Teria forças e energia suficientes para executar as reparações necessárias e pô-lo outra vez apresentável? Repus a lona no lugar, sem ter respondido à pergunta.
Uma noite, o telefone tocou. Era uma coisa rara. A maior parte das vezes, era uma companhia telefónica qualquer, a tentar persuadir-me a trocar de prestador de serviços, ou a instalar banda larga. Quando descobriam onde eu vivia e que era um velho reformado, geralmente perdiam o interesse. Além disso, não faço a mais pequena ideia do que é a banda larga.
Uma voz feminina, que não conhecia, anunciou:
- Fala Agnes Klarstrõm. Recebi a sua carta. Retive a respiração. Não disse uma palavra.
- Está? Está?
Fiquei calado. Após mais algumas tentativas para me fazer sair da minha toca, ela desligou.
Portanto, tinha-a encontrado. A carta chegara ao endereço para o qual tinha sido enviada. Ela vivia perto de Flen.
Havia um velho mapa da Suécia numa das gavetas da cozinha. Creio que pertencia ao meu avô. Por vezes, ele falava de como
155
gostaria de visitar Falkenberg antes de morrer. Não faço ideia por que motivo queria lá ir; mas nunca tinha estado em Estocolmo, nem se aventurara jamais para além das fronteiras da Suécia. Levou o sonho de visitar Falkenberg consigo para o túmulo.
Abri o mapa em cima da mesa e procurei Flen. A escala não era suficientemente grande para me permitir encontrar Sangledsbyn. Precisaria de duas horas, no máximo, para lá chegar de carro. Estava decidido: ia visitá-la.
Dois dias depois, atravessei o gelo a pé até ao meu carro. Desta vez não deixara nenhum bilhete na porta, nem avisara Jansson. O cão e a gata tinham comida suficiente. O céu estava azul, reinava uma calma absoluta, a temperatura andava pelos dois graus acima de zero. Dirigi-me para norte, virei para o interior e cheguei a Flen pouco depois das duas da tarde. Fui a uma livraria, comprei um mapa local numa escala grande e procurei Sangledsbyn. Ficava apenas a cerca de três quilómetros de Harpsund, que é o local da residência de verão do primeiro-ministro sueco. Noutros tempos, viveu lá um homem que fez uma fortuna com cortiça. Deixou a sua casa ao Estado. Havia um carvalho no terreno, à volta do qual se tinham reunido muitos estadistas estrangeiros de visita, com as resperivas comitivas e convidados. Na nova geração, pouca gente teria jamais ouvido falar deles.
Sabia tudo aquilo acerca de Harpsund porque o meu pai tinha trabalhado lá, como empregado de mesa, numa ocasião em que o então primeiro-ministro, Tage Erlander, recebera convidados estrangeiros. Nunca se cansava de falar dos homens (eram todos homens, não havia mulheres) sentados à volta da mesa, embrenhados em importantes discussões acerca da política mundial. Isso passara-se durante a Guerra Fria. Ele fizera um esforço especial para se deslocar sem o menor ruído e recordava todos os pormenores da ementa e dos vinhos. Infelizmente, também se dera um incidente que quase provocara um escândalo. O meu pai descrevia-o como se tivesse estado envolvido em algo altamente confidencial e mostrava-se cauteloso em revelar quaisquer detalhes do caso a mim e à minha mãe. Um dos convidados ficara
156
extremamente embriagado. Pronunciara um discurso de agradecimento incompreensível, no momento errado, o que causara um problema aos criados. Mas estes tinham conseguido salvar o dia, atrasando o serviço da sobremesa, que estava prestes a começar. Pouco depois, o bêbedo fora encontrado, morto para o mundo, no relvado defronte da casa.
- Fagerholm embebedou-se em circunstâncias muito infelizes - dizia o meu pai, num tom muito sério.
A minha mãe e eu nunca chegámos a descobrir quem era esse Fagerholm. Só muito mais tarde, depois da morte do meu pai, compreendi que devia tratar-se de um dos dirigentes da confederação sindical finlandesa da época.
No entanto, perto de Harpsund vivia agora uma mulher cujo braço eu amputara.
Sangledsbyn consistia nalgumas quintas, espalhadas ao longo da margem de um lago oval. Os campos e prados estavam cobertos de neve. Tinha levado os meus binóculos comigo e subi a uma colina para obter uma panorâmica melhor. Ocasionalmente, via-se uma pessoa a atravessar um pátio, entre anexos e celeiros, ou entre a casa e a garagem. Mas nenhuma das pessoas que eu via podia ser Agnes Klarström.
Sobressaltei-me. Um cão farejava-me os pés. Um homem, envergando um sobretudo comprido e galochas, estava parado na estrada, no sopé da colina. Chamou o cão e ergueu uma mão em sinal de saudação. Escondi os binóculos no bolso e desci até à estrada. Falámos um pouco acerca da vista e do inverno longo e seco.
- Na aldeia há alguém chamado Agnes Klarström? - perguntei.
O homem apontou para a casa mais distante.
- Vive ali, com o raio das miúdas - replicou ele. - Nunca tive cães, até aquela gente vir para cá. Agora toda a gente tem um cão.
Abanou a cabeça num gesto irritado e seguiu o seu caminho. Não gostei do que ouvi. Não queria meter-me em algo que trouxesse ainda mais desordem à minha vida. Resolvi voltar para casa e dirigi-me para o carro. Mas algo me fez ficar. Atravessei a aldeia,
157
até chegar a um caminho por onde passara um limpa-neves. Se seguisse por ali, podia aproximar-me das traseiras da última casa pelo meio de um maciço de árvores.
A tarde já ia adiantada e o crepúsculo não tardaria a fechar-se sobre nós. Meti pelo caminho e parei quando cheguei a um ponto de onde podia ver a casa através das árvores. Sacudi a neve de alguns ramos, criando um bom ponto de observação. Era evidente que a casa estava bem cuidada. Havia um carro estacionado à porta, com o cabo de um aquecimento de motor a serpentear sobre a neve, até uma tomada elétrica na parede.
De súbito, apareceu uma rapariga. Olhou diretamente para mim e para os meus binóculos. Brandiu algo que trazia escondido atrás das costas. Parecia ser uma espada. Começou a correr, direita a mim, com a espada erguida acima da cabeça.
Deixei cair os binóculos e fugi. Tropecei numa raiz de árvore ou numa pedra grande e caí. Antes que tivesse tempo para me levantar, a rapariga da espada tinha-me apanhado.
Fitava-me furiosamente, com os olhos cheios de ódio.
- Pervertidos como você - disse ela -, há-os por toda a parte. Tipos à espreita, escondidos no matagal com os seus binóculos.
Uma mulher veio a correr atrás dela. Parou junto da rapariga e tirou-lhe a espada com a mão esquerda - a única que tinha. Percebi que devia ser Agnes Klarstrõm. Talvez, nas profundezas do meu subconsciente, existisse uma imagem da jovem que, há doze anos, jazera em posição de solário diante das minhas mãos desinfetadas, metidas nas suas luvas de borracha.
Vestia um casaco azul, apertado até ao pescoço. A manga direita, vazia, estava presa ao ombro com um alfinete de ama. A rapariga a seu lado olhava-me com desprezo.
Desejei que Jansson pudesse vir em meu socorro. Pela segunda vez em pouco tempo, o gelo cedera por baixo dos meus pés e via-me a ser arrastado, sem conseguir içar-me para a margem.
158
CAPÍTULO 6
Pus-me em pé, sacudi a neve e expliquei quem era. A rapariga começou a dar-me pontapés, mas Agnes repreendeu-a e ela afastou-se furtivamente.
- Não preciso de um cão de guarda - disse Agnes. - Sima vê absolutamente tudo o que se passa, toda a gente que se aproxima da casa. Tem olhos de falcão.
- Julguei que ela ia matar-me.
Agnes olhou-me da cabeça aos pés, mas não respondeu.
Entrámos em casa e fomos sentar-nos no seu escritório. Algures, ao fundo, uma música rock tocava em altos berros. Agnes não deu mostras de dar por isso. Quando despiu o casaco, fê-lo com tanta rapidez como se tivesse dois braços e duas mãos.
Sentei-me na cadeira destinada às visitas. A secretária estava vazia. Tirando uma caneta, não havia lá mais nada.
- Como julga que reagi ao receber a sua carta? - inquiriu Agnes.
- Não sei. Suponho que deve ter ficado surpreendida. Talvez furiosa?
- Fiquei aliviada. Até que enfim, pensei! Mas depois perguntei: porquê só agora? Porque não ontem, ou há dez anos?
Recostou-se na cadeira. Tinha o cabelo comprido, castanho, apanhado com um travessão simples, olhos azuis e brilhantes. Irradiava uma impressão de ser forte, decidida.
Tinha pousado a espada de samurai numa prateleira ao lado da janela. Viu-me a olhar para ela.
159
- Foi-me oferecida um dia, por um homem que estava apaixonado por mim. Quando a paixão acabou, ele levou a bainha, por alguma razão inexplicável, mas deixou-me esta espada incrivelmente afiada. Talvez tivesse esperança de que eu a usasse para abrir a minha própria barriga, num ato de desespero, depois de ele partir?
Falava depressa, como se tivesse pouco tempo. Falei-lhe de Har-riet e Louise, e disse-lhe como me sentira no dever de a localizar e saber se ainda estava viva.
- Esperava que não estivesse? Que tivesse morrido?
- Noutros tempos, sim. Mas agora já não.
O telefone tocou. Agnes atendeu, ouviu o que era dito, depois replicou num tom breve, mas firme. Não havia vagas em sua casa para raparigas malcomportadas. Já tinha três adolescentes a seu cargo.
Penetrei num mundo do qual nada sabia. Agnes Klarström dirigia um lar de acolhimento onde vivia com três raparigas adolescentes, as quais, no meu tempo, teriam sido classificadas de delinquentes. Sima viera de um dos bairros sociais pobres de Gotemburgo. Não era possível saber ao certo que idade tinha. Viera para a Suécia como refugiada solitária, escondida num camião de carga de longo curso que passara pelo porto sul de Trelleborg. Durante a sua viagem desde o Irão, fora aconselhada a deitar fora todos os seus documentos de identificação assim que pusesse o pé em solo sueco, a mudar de nome e a abandonar todos os vestígios da sua identidade original, para evitar a deportação no caso de ser apanhada. A única coisa que trazia consigo era um bocado de papel com as três palavras suecas que deveria precisar de saber.
Refugiada, perseguida, só.
Quando o camião parou, defronte do aeroporto de Sturup, o motorista apontou-lhe o terminal e disse-lhe que devia dirigir-se para lá e procurar uma esquadra. Sima tinha onze ou doze anos nessa altura; agora andaria pelos dezassete e a vida que levara na Suécia denunciava que só se sentia segura com a espada de samurai nas mãos.
160
Uma das outras raparigas da casa fugira dois dias antes. Não havia cerca à volta da propriedade, não havia portas fechadas à chave. Contudo, quem quer que partisse era encarada como uma fugitiva. Se acontecesse com muita frequência, Agnes acabava por perder a paciência. Quando a rapariga em questão fosse encontrada, ver-se-ia confrontada com uma nova casa, onde os portões seriam sólidos e os chaveiros, volumosos.
A fugitiva, uma africana do Chade chamada Miranda, tinha provavelmente ido ter com um amigo que, por qualquer razão, fora alcunhado de Saquinho de Chá. Miranda tinha dezasseis anos e viera para a Suécia com a família, com o estatuto de refugiada, ao abrigo de um programa da ONU.
O pai era um homem simples, carpinteiro de profissão e muito religioso, que não tardara a ir-se abaixo perante o infindável tempo frio e a sensação de que nada correra como ele esperava. Fechara-se no mais pequeno dos três quartos nos quais a família, bastante numerosa, vivia, um quarto sem mobília, apenas um montículo de areia africana que viera nas suas malas maltratadas quando tinham chegado ao seu novo país. A mulher punha-lhe um tabuleiro com comida e algo para beber diante da porta, três vezes por dia. Durante a noite, quando o resto da família estava a dormir, ia à casa de banho e talvez também saísse em passeios solitários pela cidade. Pelo menos, era o que presumiam, porque por vezes encontravam pegadas húmidas no chão, quando acordavam na manhã seguinte.
Miranda acabara por achar aquilo insuportável e, uma bela tarde, saíra simplesmente de casa, talvez com a esperança de poder regressar ao sítio de onde viera. O novo país revelara-se um beco sem saída. Pouco tempo depois, fora detida pela polícia por pequenos furtos e dera por si a ser transferida de uma instituição penal para outra.
Agora fugira. Agnes Klarström estava furiosa, mas resolvida a não descansar enquanto a polícia não fizesse um esforço sério para a encontrar e devolver a casa.
Havia uma fotografia de Miranda na parede. O cabelo da rapariga estava artisticamente arranjado, em tranças coladas ao crânio.
161
- Se olhar com atenção, verá que ela entrançou a palavra "foda-se" junto à têmpora esquerda - disse Agnes.
Constatei que ela tinha razão.
Havia ainda uma terceira rapariga no lar de acolhimento que era simultaneamente a missão e a fonte de rendimento de Agnes Klarstrõm. Era a mais nova das três, com
catorze anos apenas, e tratava-se de uma criatura escanzelada que lembrava um animal tímido enjaulado. Agnes não sabia quase nada a seu respeito. Era um pouco como a criança do velho conto popular, que dá por si no meio da praça da cidade, tendo esquecido o seu nome e o lugar de onde vinha.
Já noite cerrada, dois anos antes, um funcionário da estação de caminho de ferro de Skõvde, que se preparava para fechar tudo e dar o dia de trabalho por findo, encontrara-a sentada num banco. Disse-lhe para ir embora, mas ela não deu sinais de compreender. Não fazia senão mostrar um papel que dizia "Comboio para Karls-borg" e o funcionário deu por si a pensar qual dos dois estaria doido, pois há quinze anos que não havia comboios de Skõvde para Karlsborg.
Alguns dias depois, a rapariga começou a aparecer nos cabeçalhos dos jornais como "A Criança da Estação de Skõvde". Ninguém parecia reconhecê-la, embora houvesse fotografias dela por toda a parte. Não tinha nome, foi examinada por psicólogos, intérpretes que falavam todas as línguas da Terra tentaram levá-la a dizer alguma coisa, mas ninguém fazia a menor ideia de onde ela vinha. A única pista acerca do seu passado era o misterioso papel com as palavras "Comboio para Karlsborg". Viraram do avesso a pequena cidade de Karlsborg, nas margens do Lago Váttern, mas ninguém reconhecia a rapariga e ninguém conseguia compreender por que motivo ela estava à espera de um comboio que deixara de existir há quinze anos. Um jornal vespertino realizou uma sondagem entre os seus leitores e atribuiu-lhe o nome de Aida. Foi-lhe dada a cidadania sueca e um número de identificação pessoal, depois de os médicos terem concluído que devia ter doze anos, treze no máximo. Devido ao seu cabelo, preto e espesso, e à sua pele cor de azeitona, presumia-se que era oriunda do Médio Oriente.
162
Aida não disse uma única palavra durante dois anos. Só depois de esgotadas todas as outras possibilidades e de Agnes Klarstrõm a ter acolhido, foram feitos os primeiros progressos. Uma manhã, Aida entrou na sala e sentou-se à mesa do pequeno-almoço. Agnes falava com ela desde que chegara, tentando estimular alguma rea-ção na rapariga. Nesse dia, perguntou-lhe, num tom agradável, o que ela queria comer.
- Papas de aveia - respondeu Aida, num sueco quase perfeito. Depois disso, começou a falar. Os psicólogos, que acorreram em
bandos, concluíram que ela tinha aprendido o idioma ouvindo o que era dito por todas as pessoas que tentavam fazê-la falar. Um facto significativo a favor dessa teoria é que Aida conhecia e compreendia um grande número de termos médicos e psicológicos, que, de outro modo, dificilmente constariam do vocabulário normal de uma rapariga da sua idade.
Falava, mas não tinha absolutamente nada a dizer acerca das suas origens e identidade, ou do que ia fazer a Karlsborg. Sempre que alguém lhe perguntava como se chamava, respondia como seria de esperar:
- Chamo-me Aida.
Voltou a aparecer nos cabeçalhos de todos os jornais. Havia vozes que murmuravam em cantos esconsos, insinuando que ela enganara toda a gente e que o seu silêncio não passara de uma cortina de fumo para vencer qualquer resistência e garantir a cidadania sueca. Mas Agnes pensava que a explicação era diferente. Da primeira vez que se haviam encontrado, Aida olhara fixamente para o seu braço amputado. Era como se aquela visão lhe recordasse qualquer coisa, como se tivesse nadado em águas demasiado profundas durante anos e tivesse finalmente alcançado uma zona com pé. Talvez o coto de Agnes significasse qualquer coisa que Aida reconhecia e lhe proporcionava um sentimento de segurança. Talvez tivesse visto pessoas a serem mutiladas. Os mutiladores eram os seus inimigos e os mutilados, as únicas pessoas em quem podia confiar.
O silêncio de Aida devia-se ao facto de ter visto coisas a que nenhum ser humano, muito menos uma criança pequena, devia jamais ser exposto e, consequentemente, nunca falava da sua vida
163
passada. Era como se estivesse a libertar-se lentamente dos últimos vestígios de experiências aterradoras e pudesse começar aos poucos uma jornada rumo a uma vida que valesse a pena viver.
E assim, Agnes Klarstrõm geria o seu pequeno lar de acolhimento, cuidando daquelas três raparigas, com apoio financeiro de várias câmaras municipais. Imploravam-lhe muitas vezes que abrisse a porta a mais raparigas, que vagueavam nas franjas da sociedade. Mas ela recusava: para proporcionar o auxílio e os sentimentos de segurança necessários para produzir um verdadeiro impacto, tinha de limitar a sua atividade a uma escala reduzida. As raparigas a seu cargo fugiam com frequência, mas voltavam quase sempre. Ficavam muito tempo com ela e, quando por fim partiam de vez, tinham sempre uma nova vida à sua espera. Agnes nunca recebia mais do que três raparigas de cada vez.
- Podia ter um milhar delas, se quisesse - disse-me ela. - Um milhar de raparigas abandonadas e selvagens, que detestam estar sozinhas e detestam a sensação de não serem bem-vindas onde quer que vão. As minhas raparigas sabem que, sem dinheiro, não se recebe senão desprezo. De maneira que se desfiguram, apunhalam pessoas que nunca viram, mas, lá no fundo, estão a gritar de dor devido a uma ferida que não compreendem.
- Como se envolveu nisto tudo?
Agnes apontou para o braço que eu amputara.
- Era nadadora, como deve lembrar-se. Deve haver qualquer coisa a esse respeito nos meus registos. Não era apenas uma iniciada, podia ter sido campeã. Ganhava medalhas. Posso dizer, sem amargura, que o meu ponto forte não eram as minhas pernas, mas a força que tinha nos braços.
Um jovem de rabo de cavalo entrou pela sala dentro.
- Já te disse que tens de bater à porta primeiro - gritou-lhe Agnes. - Fora! Tenta outra vez!
O jovem sobressaltou-se, saiu, bateu à porta e entrou.
- Quase. Tens de esperar que eu te diga que podes entrar. Que queres?
164
- Aida está perturbada. Está a ameaçar toda a gente. Principalmente a mim. Diz que vai estrangular Sima.
- Que aconteceu?
- Não sei. Talvez se sinta infeliz.
- Terá de aprender a lidar com isso. Deixa-a sozinha.
- Ela quer falar consigo.
- Diz-lhe que já vou.
- Ela quer que vá já.
- Estarei lá daqui a um minuto. O jovem saiu da sala.
- Ele não está à altura - comentou Agnes com um sorriso. - Acho que precisa de ter sempre alguém a ladrar-lhe aos calcanhares. Mas não se importa com as minhas críticas. Afinal, posso sempre desculpar-me com o braço. Veio cá parar graças a um esquema qualquer do centro de emprego. O seu sonho é entrar num daqueles reality shows da televisão, em que os participantes vão para a cama uns com os outros à frente das câmaras. Se não conseguir isso, então tem esperança de se tornar apresentador. Mas o simples ato de ajudar as minhas raparigas parece ultrapassá-lo. Não creio que Mats Karlsson vá fazer grande carreira nos meios de comunicação.
- Isso parece cínico.
- De maneira nenhuma. Adoro as minhas raparigas, até adoro Mats Karlsson. Mas não lhe faço favor nenhum se encorajar os seus sonhos infundados ou se permitir que ele julgue que está a dar um contributo positivo aqui. Estou a dar-lhe uma oportunidade de se ver tal como é e, eventualmente, construir uma vida com sentido. Talvez faça mal em subestimá-lo. E possível que, um dia, ele corte o cabelo e tente fazer qualquer coisa da vida.
Levantou-se, escoltou-me até uma sala de estar e disse que voltaria daí a pouco. A música rock proveniente do andar de cima continuava excessivamente alta.
A neve derretida pingava do telhado, do outro lado das janelas, e aves canoras esvoaçavam em redor como sombras moldadas à pressa.
Dei um salto. Sima entrara na sala, por trás de mim, sem o menor ruído. Desta vez não empunhava uma espada. Sentou-se no sofá e encolheu as pernas debaixo do corpo. Mas estava sempre alerta.
165
- Por que estava a olhar para mim pelos binóculos?
- Não era para ti que estava a olhar.
- Mas eu vi-o. Pedófilo!
- Que queres dizer com isso?
- Conheço o seu tipo! Sei como é.
- Vim cá para falar com Agnes.
- Porquê?
- Isso é entre mim e ela.
- Gosta dela, é? Fiquei chocado e corei.
- Acho que está na altura de pormos fim a esta conversa.
- Que conversa? Responda à minha pergunta!
- Não há nada para responder.
Sima desviou o olhar e pareceu farta de tentar falar comigo. Senti-me ofendido. A acusação de pedofilia ultrapassava tudo o que podia ter imaginado. Olhei furtivamente para ela. Estava concentrada a roer as unhas. O seu cabelo parecia um misto de ruivo e preto e estava desgrenhado, como se ela estivesse com um ataque de fúria quando se penteara. Sob aquele exterior duro, pareceu-me discernir uma rapariguinha muito pequena, metida em roupas demasiado grandes e demasiado negras para ela.
Agnes entrou na sala. Sima desapareceu imediatamente. A domadora de leões chegou e a besta escapuliu-se, pensei para comigo. Agnes sentou-se na mesma cadeira que Sima ocupara e encolheu as pernas debaixo do corpo, como se quisesse imitar a sua filha adotiva.
- Aida é uma rapariguinha e, de repente, começaram a jorrar-lhe palavras da boca - disse ela.
- Que aconteceu?
- Absolutamente nada. Lembrou-se simplesmente do que é. Um enorme e desesperado nada, nas suas próprias palavras. Uma derrotada entre muitas outras derrotadas. Se alguém fundasse um Partido dos Derrotados na Suécia, não faltariam membros capazes de contribuir com uma vasta experiência. Tenho quase trinta e três anos. E você?
- O dobro.
166
- Sessenta e seis. Isso é velho. Trinta e três não é muito. Mas é o bastante para se compreender que nunca houve tanta tensão neste nosso país como hoje em dia. Mas ninguém parece dar por isso. Pelo menos, nenhuma das pessoas que se julgaria terem o dever de prestar atenção. Há uma rede invisível de muralhas na Suécia e cada dia é pior: muralhas a dividir as pessoas, a aumentar a distância que as separa. Superficialmente, parece estar a acontecer o contrário. Mas meta-se no metro em Estocolmo e vá até aos subúrbios. Não é muito longe em termos de quilómetros, no entanto a distância é imensa. É um disparate falar em entrar noutro mundo. É
o mesmo mundo. Mas cada estação, à medida que nos afastamos do centro da cidade, é uma nova muralha. Quando chegamos finalmente aos arrabaldes, podemos optar por encarar a verdade ou não.
- E qual é a verdade?
- Que aquilo que julgamos ser a periferia é, de facto, o centro e está a recriar a Suécia a pouco e pouco. O país está a rodar lentamente, e coisas como exterior e interior, perto e longe, centro e arredores, estão a mudar. As minhas raparigas existem numa terra de ninguém na qual não podem olhar nem para trás, nem para a frente. Ninguém as quer, são supérfluas, rejeitadas. Não admira que todas as manhãs, quando acordam, a única coisa de que podem ter a certeza é da sua própria falta de valor, que está mesmo à frente dos seus olhos. Portanto não querem acordar! Não querem levantar-se da cama! A amargura foi-lhes injetada à força desde os cinco ou seis anos.
- E assim tão mau?
- É pior.
- Vivo numa ilha. Não há lá subúrbios, apenas pequenos recifes e rochas. E garantidamente não há raparigas desorientadas, que correm para nós brandindo uma espada
de samurai.
- Tratamos as nossas crianças tão mal que, no fim, elas não têm outro meio de expressão que não a violência. Dantes isso aplicava-se apenas aos rapazes. Agora temos gangs de raparigas de uma dureza incrível, que não pensam duas vezes antes de fazer mal aos outros. Batemos mesmo no fundo, quando as raparigas estão tão desesperadas que acham que a sua única opção é comportarem-se como os piores bandidos entre os seus namorados.
167
- Sima chamou-me pedófilo.
- A mim chama-me prostituta quando lhe dá o mau génio. Mas o pior é o que chama a si própria.
- Que diz ela?
- Que está morta. O seu coração não aguenta. Escreve poemas estranhos, depois deixa-os na minha secretária ou mete-mos nos bolsos, sem dizer palavra. É muito possível que daqui a dez anos esteja morta. Quer às suas próprias mãos, quer às de outra pessoa. Ou terá um acidente, atestada de drogas ou de outra merda qualquer. É um
fim altamente provável para a desgraçada saga da sua vida. Mas não posso desistir dela. Sei que tem força interior. Se ao menos fosse capaz de ultrapassar o sentimento
de inutilidade que a persegue por toda a parte. Não tenho alternativa senão ser bem sucedida com ela. Transborda de decadência e desencanto; tenho de a revitalizar.
Pôs-se em pé.
- Devo ir à polícia e chatear para que invistam mais esforço em procurar a Miranda. E se fosse dar uma volta até ao celeiro? Podemos continuar a nossa conversa mais tarde.
Saí da sala. Sima espreitava por trás das cortinas, seguindo todos os meus gestos. Vários gatinhos pequenos trepavam pelos fardos de feno do celeiro. Havia vacas e cavalos em baias e estábulos. Reconheci vagamente o odor, dos tempos da minha infância mais remota, quando os meus avós tinham animais na ilha. Afaguei o focinho dos cavalos e acariciei as vacas. Agnes Klarstrõm parecia ter a sua vida sob controlo. Que faria eu se um cirurgião me tivesse feito a mesma coisa? Transformar-me-ia num bêbedo carregado de amargura, bebendo até cair morto num banco de jardim? Ou teria conseguido vencer a dor? Não sei.
Mats Karlsson entrou no celeiro e começou a dar feno aos animais. Trabalhava devagar, como se fosse obrigado a fazer algo que detestava.
- Agnes pediu-me para lhe dizer que fosse lá dentro - disse ele de repente. - Tinha-me esquecido.
Voltei para a casa. Sima já não estava à janela. Soprava uma brisa leve e recomeçara a nevar. Estava com frio e cansado. Agnes estava de pé no átrio, à minha espera.
168
- Sima fugiu - disse ela.
- Mas vi-a há poucos minutos.
- Isso já foi. Agora desapareceu. No seu carro.
Apalpei o bolso. A chave do carro estava lá. Sabia que o tinha trancado. A medida que envelhecemos, damos por nós cada vez com mais chaves no bolso. Mesmo quando vivemos sozinhos numa I ilha remota do arquipélago.
- Vejo que não acredita em mim - observou Agnes. - Mas vi o carro partir. E o blusão de Sima não está em lado nenhum. Tem um blusão especial, que usa sempre que resolve fugir. Talvez acredite que tem o poder de a tornar invulnerável, invisível. Também levou aquela espada. Estúpida rapariga!
- Mas as chaves do carro estão no meu bolso.
- Sima tinha um namorado, chamado Filippo, um rapaz simpático, italiano, que lhe ensinou tudo o que há para saber acerca de arrombar carros fechados e pôr motores a trabalhar. O rapaz roubava sempre carros estacionados em parques de piscinas ou de edifícios onde funcionavam casinos ilegais. Sabia que os proprietários estariam ocupados durante muito tempo. Só amadores idiotas é que roubam carros de parques de estacionamento vulgares.
- Como sabe tudo isso?
- Sima contou-me. Confia em mim.
- O que não a impede de roubar o meu carro e desaparecer!
- Pode interpretar isso como um sinal de confiança. Espera que compreendamos a sua atitude.
- Mas quero recuperar o meu carro!
- Normalmente, Sima rebenta com os motores. Você correu um risco em vir cá. Mas não podia saber isso, bem entendido.
- Cruzei-me com um homem que tinha um cão. Empregou expressões como "raio das miúdas".
- Eu também. Que tipo de cão era?
- Não sei. Era castanho e hirsuto.
- Então o homem era Alexander Bruun. Um antigo vigarista, que trabalhou num banco e burlou os clientes para lhes ficar com o dinheiro. Foi detido por fraude, mas não chegou sequer a cumprir
169
pena. Agora vive como Riley, à custa do dinheiro que desviou e que a polícia nunca conseguiu encontrar. Odeia-me e odeia as minhas raparigas.
Telefonou à polícia, do seu escritório, e explicou o que tinha acontecido. A minha preocupação aumentou ao ouvir o que parecia uma conversa íntima com um agente da polícia, que não dava mostras de achar que houvesse qualquer urgência em apanhar uma fugitiva claramente interessada em destruir o meu já peri-clitante carro.
Agnes desligou.
- Que vão eles fazer? - perguntei.
- Nada.
- Mas têm de fazer qualquer coisa, com certeza?
- Não dispõem de recursos para começarem a procurar Sima e o seu carro. Acabará por ficar sem gasolina. Então Sima abandoná-lo-á e apanhará um comboio ou uma camioneta. Ou roubará outro carro. Uma vez regressou numa carrinha de leite. Acaba sempre por voltar. A maioria dos fugitivos não tem nenhum destino específico em mente. Você nunca fugiu?
Pareceu-me que a única resposta honesta para aquela pergunta era que tinha passado os últimos doze anos a fugir. Mas não disse isso. Não disse nada.
Jantámos às seis horas. Agnes, Aida, Mats Karlsson e eu. Aida tinha posto talheres para as duas raparigas fugidas.
O jantar foi um peixe gratinado insípido. Comi demasiado depressa, pois estava preocupado com o meu carro. Aida parecia inspirada pelo facto de Sima ter fugido e pôs-se a falar pelos cotovelos. Karlsson ouvia-a atentamente, encorajando-a, enquanto Agnes comia em silêncio.
Quando terminámos, Aida e Mats levantaram a mesa e encar-regaram-se de lavar a loiça. Agnes e eu fomos para o celeiro.
Pedi-lhe desculpa. Expliquei, tão claramente como pude, o que correra mal naquele dia fatídico. Falei devagar e longamente, para não omitir nenhum detalhe. Mas o facto é que podia ter explicado o que acontecera em poucas palavras. Sucedera uma coisa que nunca devia ter sido possível. Tal como um piloto de avião é responsável
170
pelo voo e tem de garantir que foi feita uma verificação meticulosa do avião antes de descolar, eu tinha a responsabilidade de garantir que o braço lavado e exposto para amputação era o correto; e falhara nessa responsabilidade.
Sentámo-nos cada um no seu fardo de feno. Agnes fitou-me atentamente enquanto eu falava. Quando acabei, levantou-se e foi alimentar os cavalos com cenouras que tirava de um saco. Depois veio sentar-se ao meu lado, no fardo de feno.
- Meu Deus, como o amaldiçoei! - exclamou. - Nunca poderá compreender o que significa para uma pessoa que adora nadar ser obrigada a desistir. Costumava imaginar que o localizava e lhe cortava o braço com uma faca muito romba. Que o enrolava em arame farpado e o atirava ao mar. Mas só se pode alimentar o ódio durante um certo tempo. Pode dar-nos uma espécie de força ilusória, mas o facto é que não passa de um parasita que consome tudo. Agora, só as raparigas têm importância.
Apertou-me a mão.
- Seja como for. Já chega disto - declarou. - Se continuarmos, vai dar-nos para o sentimento. Não quero isso. Uma pessoa só com um braço deixa-se levar facilmente pelas emoções.
Voltámos para dentro de casa. Do quarto de Aida vinha música aos altos berros. Guitarras estridentes, baterias sonoras. As paredes vibravam. O telemóvel, que Agnes trazia no bolso, tocou. Ela atendeu, ouviu, disse algumas palavras.
- Era Sima - informou. - Manda-lhe cumprimentos.
- Manda-me cumprimentos? Onde está ela?
- Não disse. Só queria que Aida lhe telefonasse.
- Não a ouvi dizer-lhe para voltar aqui com o meu carro.
- Estava a ouvir. Foi ela quem falou.
Levantou-se e subiu as escadas. Ouvi-a gritar, para se fazer ouvir entre o barulho da música. Encontrara Agnes Klarstrõm e ela não gritara comigo. Não me afogara numa torrente de acusações. Nem sequer levantara a voz, ao descrever como desejara matar-me nos seus sonhos.
Tinha muito em que pensar. No espaço de poucas semanas, três mulheres tinham entrado inesperadamente na minha vida. Harriet,
171
Louise e agora Agnes. Talvez devesse acrescentar ainda Sima, Miranda e Aida. Agnes regressou. Tomámos café. Não havia sinais de Mats Karlsson. A música rock continuava a ressoar pela casa.
Tocaram à campainha. Agnes foi abrir. Eram dois polícias, com uma rapariguinha que depreendi ser Miranda. Os polícias seguravam-lhe os braços, como se ela fosse perigosa.
Tinha um dos rostos mais bonitos que jamais vi. Uma Maria Madalena agarrada por soldados romanos.
Miranda não disse nada, mas presumi, pela conversa entre Agnes e os polícias, que tinha sido apanhada por um agricultor a roubar um vitelo. Agnes protestou, indignada: por que raio havia Miranda de querer roubar um vitelo? A conversa tornou-se cada vez mais acalorada, os polícias pareciam cansados, ninguém ouvia o que os outros estavam a dizer e Miranda limitava-se a assistir.
Os polícias partiram, sem que ficasse claro se a alegada tentativa de roubar um vitelo fora bem sucedida. Agnes fez algumas perguntas a Miranda, num tom severo. A rapariga do belo rosto respondeu em voz tão baixa que não consegui perceber o que dizia.
A recém-chegada subiu as escadas e a música terminou. Agnes sentou-se no sofá e examinou as unhas.
- Miranda é uma rapariga que adoraria ter como minha filha. De todas as raparigas que por aqui passaram, que foram e vieram, acho que é ela a que vai sair-se melhor na vida. Desde que descubra o horizonte que tem dentro de si.
Indicou-me um quarto atrás da cozinha, onde eu podia dormir, e deixou-me por minha conta, pois tinha muito que fazer no escritório. Estendi-me na cama e pus-me a imaginar o meu carro. Via-o com fumo a sair do motor. Ao lado de Sima, no banco do passageiro, encontrava-se a espada acabada de amolar. Que diriam os meus avós, se ainda fossem vivos e eu tentasse contar-lhes aquilo tudo? Nunca teriam acreditado, nunca teriam compreendido. Que diria o empregado de mesa subjugado e maltratado que fora o meu pai? A minha chorosa mãe? Apaguei a luz e fiquei deitado no escuro, rodeado por
172
vozes sussurrantes que me diziam que os doze anos que passara na minha ilha me haviam roubado o contacto com o mundo em que vivia.
Devo ter adormecido. Fui acordado pelo toque de um objeto frio com o meu pescoço. O candeeiro da mesa de cabeceira estava aceso. Abri os olhos e vi Sima inclinada sobre mim, com a espada comprimida contra o meu pescoço. Não sei por quanto tempo contive a respiração, até ela afastar a espada.
- Gostei do seu carro - declarou ela. - É velho e não anda muito depressa, mas gostei dele.
Sentei-me. Ela pousou a espada no parapeito da janela.
- O carro está lá fora - prosseguiu ela. - Não está estragado.
- Não gosto que as pessoas levem o meu carro sem autorização. Sima sentou-se no chão, com as costas apoiadas ao radiador.
- Fale-me da sua ilha - disse ela.
- Porque havia de o fazer? Como sabes que vivo numa ilha?
- Sei montes de coisas.
- Fica bastante ao largo da costa e neste momento está completamente rodeada de gelo. No outono, as tempestades podem ser tão violentas que atiram os barcos para terra, se não estiverem bem ancorados.
- Vive mesmo sozinho na ilha?
- Tenho um cão e uma gata.
- Não tem medo de tanto espaço vazio?
- As rochas e os arbustos de zimbro geralmente não se lançam sobre nós com uma espada. As pessoas é que fazem isso.
Sima ficou sentada por um momento, sem dizer nada, depois levantou-se e pegou na espada.
- Talvez vá visitá-lo um destes dias - declarou.
- Duvido muito. Ela sorriu.
- Eu também. Mas engano-me muitas vezes.
Tentei adormecer outra vez. Desisti por volta das cinco da manhã. Vesti-me e deixei um bilhete a Agnes, dizendo-lhe que tinha ido para casa. Meti-o por baixo da porta trancada do seu escritório.
Toda a casa dormia quando parti.
173
O motor cheirava a queimado e, quando parei para meter gasolina numa estação de serviço aberta toda a noite, resolvi atestar também o óleo. Cheguei ao porto pouco antes do amanhecer.
Caminhei até ao cais. Levantava-se um vento fresco. Apesar da grande extensão de gelo, o vento trazia em si o odor salgado do mar aberto. Alguns candeeiros iluminavam o porto, onde uns quantos barcos de pesca abandonados embatiam em pneus de automóvel.
Esperei que o dia clareasse, antes de empreender a travessia do gelo. Não fazia a menor ideia de como ia adaptar a minha vida de modo a lidar com tudo o que acontecera.
Ali sozinho, no cais, exposto ao vento frio e cortante, comecei a chorar. Todas as portas que tinha dentro de mim batiam ao vento, que parecia cada vez mais forte.
174
O MAR
CAPÍTULO 1
O degelo só veio no princípio de abril. Em todos os anos que ali vivera, o mar nunca permanecera gelado por tanto tempo. Ainda era possível caminhar pelos canais
até à costa no fim de março.
Jansson aparecia no seu hidrocóptero de três em três dias e dava-me notícias acerca do estado do gelo. Parecia-lhe recordar um inverno, nos anos sessenta, em que o gelo durara tanto como desta vez no arquipélago exterior.
A paisagem pintada de branco era ofuscante, quando subia à colina atrás da casa e contemplava o horizonte. Por vezes pendurava os espigões de gelo do meu avô ao pescoço, pegava num velho bastão de esqui e dava longos passeios pelos recifes e rochedos onde dantes ficava a zona de pesca ao arenque. O meu avô, tal como o seu pai antes dele, conseguiam pescarias com que hoje em dia não se podia sequer sonhar. Caminhava pelos recifes onde nada cresce e recordava como costumava ir até lá de barco a remos, na minha infância. Encontrava-se toda a espécie de destroços extraordinários nas fendas de rocha. Um dia encontrei uma cabeça de boneca e, noutra
ocasião, uma caixa hermética que continha vários discos de gramofone, de 78 rotações. O meu avô consultou uma pessoa que sabia dessas coisas e foi informado de que
se tratava de canções alemãs do tempo da guerra que terminara quando eu era pequeno. Não sabia o que era feito desses discos. Noutra ilhota rochosa tinha encontrado
um grande diário de bordo, também hermético, que um comandante de navio, delirante ou desesperado, atirara ao mar. Era
177
de um cargueiro, que transportava madeira das serrações do norte da Suécia para a Irlanda, onde essa madeira era utilizada na construção. O navio pesava três mil
toneladas e chamava-se Flanagan. Ninguém sabia como ou porquê o diário de bordo fora parar à água. O meu avô falara com um professor reformado, que costumava passar
o verão em Lõnõ, numa casa que pertencera a um antigo piloto, Grundstrõm. O professor traduzira o texto, mas não havia nenhuma anotação invulgar no diário, no dia
em que fora deitado ao mar. Ainda me lembro da data: nove de maio de 1947. A última entrada do diário era uma nota acerca de "lubrificar a engrenagem da âncora o mais depressa possível". Nada mais. O diário de bordo estava incompleto, mas fora deitado ao mar. Partira de Kubikenborg, com uma carga de madeira destinada a Belfast. O tempo estava bom, o mar quase completamente calmo, e uma nota dessa manhã dizia que soprava uma brisa de sudeste, a um metro por segundo.
Enquanto o longo inverno se arrastava, pensei muitas vezes nesse diário de bordo. Parecia-me que a minha vida após o erro catastrófico fora um pouco como deitar o diário de bordo inacabado ao mar e depois seguir viagem sem deixar rasto. O insignificante diário que mantinha, registando coisas como ampélis desaparecidos e a fraca saúde dos meus animais de estimação, não tinha interesse nem mesmo para mim. Escrevia-o porque era uma recordação diária do facto de que vivia uma vida desprovida de substância. Escrevia acerca de ampélis para confirmar a existência de uma vida no vazio.
De repente comecei a pensar nos meus pais. Acordava frequentemente a meio da noite, com a cabeça cheia de recordações extraordinárias, esquecidas há muito e recuperadas nos sonhos. Via o meu pai de joelhos, a alinhar os seus soldadinhos de chumbo e a dispô-los numa reconstituição de Waterloo ou Narva. A minha mãe estava geralmente sentada na poltrona, a observá-lo com uma expressão de grande ternura: os jogos dele decorriam sempre em absoluto silêncio e ela deixava-se simplesmente ficar ali sentada.
A marcha dos soldadinhos de chumbo garantia que havia momentos de verdadeira paz em nossa casa, ainda que apenas ocasionalmente. Nos meus sonhos, revivia o meu medo das discussões que rebentavam de vez em quando. A minha mãe chorava e o meu
178
pai fazia um esforço pouco convincente para manifestar a sua raiva, i amaldiçoando o dono do restaurante que o empregava. Aos poucos, ia percorrendo em sonhos o
caminho para as minhas raízes. Tinha a sensação de caminhar com uma picareta na mão, revolvendo o chão em busca de algo que se perdera.
Apesar de tudo isso, foi um inverno caracterizado por coisas recuperadas. Harriet presenteara-me com uma filha e Agnes não me odiava.
Foi também um inverno de cartas. Escrevia e recebia respostas. Pela primeira vez nos doze anos que passara na ilha, as visitas de Jansson tinham um objetivo. Ele continuava a considerar-me o seu médico e a exigir consultas para as suas dores imaginárias. Mas agora trazia-me correio e, por vezes, eu entregava-lhe uma resposta.
Escrevi a minha primeira carta no próprio dia em que cheguei a casa. Tinha atravessado o gelo à luz cinzenta da madrugada. Os meus animais pareciam mortos de fome,
apesar do facto de lhes ter deixado comida mais do que suficiente para os alimentar convenientemente. Depois de me certificar que tinham comido tanto quanto lhes
apetecia, sentei-me à mesa da cozinha e escrevi uma carta a Agnes.
"Peço desculpa por ter partido tão abruptamente. Suponho que me sentia esmagado por ter conhecido a pessoa que tanto sofrera por minha causa. Há muitas coisas acerca das quais gostaria de ter falado consigo, e é bem possível que a Agnes tenha muitas perguntas para me fazer. Estou de novo na minha ilha. O mar em redor ainda está completamente gelado. Espero que a minha partida súbita não tenha por resultado perdermos o contacto um com o outro."
Não alterei uma única palavra. No dia seguinte, pedi a Jansson que a enviasse. Ao que parecia, ele não dera conta da minha ausência. Ficou curioso acerca da carta, bem entendido, mas não disse nada. Nem sequer tinha quaisquer dores, nesse dia.
A noite comecei a escrever a Harriet e Louise, apesar de não ter recebido resposta à minha carta anterior. Mas a missiva depressa ficou demasiado longa e tornou-se evidente que não podia escrever uma carta dirigida a ambas: não sabia muito bem até que ponto eram chegadas. Rasguei a carta e recomecei do princípio. A gata estava deitada no sofá, profundamente adormecida, o cão instalara-
179
-se ao pé do fogão, respirando pesadamente. Tentei perceber se tinha alguma dor nas articulações. Era provável que não sobrevivesse ao próximo outono. O mesmo se aplicava à gata.
Escrevi a Harriet e perguntei-lhe como estava. Era uma pergunta disparatada, pois sabia que ela estava doente, claro. Mas nem por isso deixei de perguntar. A pergunta impossível era a mais óbvia. Depois falei da viagem que havíamos feito juntos.
"Fomos à lagoa da floresta. Quase me afoguei. Tu tiraste-me da água. Só agora, depois de regressar a casa, é que percebo verdadeiramente quão perto estive de me afogar."
A ideia de morrer por afogamento aterrava-me. Mas não me impedia de abrir o buraco no gelo, para o meu banho, todas as manhãs. No entanto, passados alguns dias apercebi-me de que já não precisava tanto do meu banho como dantes. Depois de encontrar Harriet e Louise, não me parecia tão essencial expor-me ao frio. Os meus banhos matinais tornaram-se menos frequentes.
Nessa mesma noite escrevi também a Louise. Tinha lido um artigo acerca de Caravaggio numa velha enciclopédia de 1909, a edição conhecida por Owl. Comecei a carta com uma citação da enciclopédia: "As suas cores surpreendentes, ainda que sombrias, e as suas reproduções ousadas da natureza provocaram uma atenção generalizada e justificada." Rasguei a folha de papel. Não podia fingir que aquilo que escrevera era a minha opinião. Nem queria confessar que roubara a citação de um livro de referência com quase cem anos, embora tivesse atualizado a linguagem.
Comecei de novo. Acabou por ser uma carta muito curta.
"Bati com a porta da tua caravana ao sair. Não devia ter feito isso. Não consegui lidar com a minha própria confusão. Peço desculpa por isso. Espero que não prossigamos com as nossas vidas fingindo que o outro não existe."
Não era uma boa carta. Dois dias depois, fiquei a saber exata-mente como fora mal recebida. O telefone tocou a meio da noite. Levantei-me às apalpadelas, meio a dormir, e tropecei nos meus assustados animais antes de conseguir pegar no auscultador. Era Louise. Estava furiosa. Gritava tão alto que quase me rebentou os tímpanos.
180
- Estou tão zangada contigo. Como foste capaz de escrever uma carta daquelas? Bates com a porta mal as coisas se tornam desagradáveis.
Percebi que ela estava a entaramelar as palavras. Eram três da manhã. Tentei acalmá-la, mas isso apenas a enfureceu ainda mais. Portanto calei-me. Deixei-a gritar à vontade.
É a minha filha, dizia para mim próprio. Está a dizer o que precisa de dizer. Além de que sabia que a minha carta não era boa. Não sei quanto tempo ela gritou ao
telefone. De súbito, a meio de uma frase, ouviu-se um clique e a chamada foi cortada.
O silêncio era ressonante. Levantei-me e abri a porta da sala de estar. O formigueiro
estava cada vez maior. Ou, pelo menos, assim o imaginava. Será que os formigueiros crescem durante o inverno, enquanto os insetos hibernam? Sabia tão pouco a esse
respeito como acerca da melhor maneira de responder a Louise. Compreendia por que motivo ela estava zangada. Mas compreender-me-ia ela? Haveria alguma coisa para
compreender? Será possível encarar-se uma mulher adulta, de cuja existência nada se sabia, como filha? E o que era eu para ela?
Não consegui dormir mais nessa noite. Fui dominado por um medo que não conseguia controlar. Fiquei sentado à mesa da cozinha, agarrado à toalha encerada azul que a cobria desde o tempo da minha avó. Invadia-me um sentimento de vazio e impotência. Louise cravara profundamente as garras no mais íntimo do meu ser.
Saí ao nascer do dia. Parecia-me que teria sido melhor se Har-riet nunca tivesse aparecido no gelo. Podia ter vivido sem filha, tal como Louise podia ter passado sem pai.
Chegado ao pontão, embrulhei-me no velho casaco de peles do meu avô e sentei-me no banco. Tanto o cão como a gata tinham saído, cada um para o seu lado, como se via pelos rastos na neve. Raramente iam juntos onde quer que fosse. Será que por vezes mentiam um ao outro acerca das suas intenções?
Pus-me em pé e uivei a plenos pulmões no nevoeiro. O som perdeu-se na luz cinzenta. A minha rotina fora perturbada. Har-riet aparecera do nada e virara a minha vida de pernas para o ar.
181
Louise gritara uma verdade aos meus ouvidos e vira-me indefeso contra ela. Talvez Agnes também me atacasse, a seu tempo, com uma fúria inesperada?
Deixei-me cair de novo no banco. Lembrei-me das palavras da minha avó, do seu medo. Quando se sai no nevoeiro, pode desaparecer-se para sempre.
Vivia sozinho naquela ilha há doze anos. Agora era como se a ilha tivesse sido invadida por três mulheres.
Devia convidá-las a todas para me visitarem quando chegasse o verão. Podiam passar uma bela noite estival a atacar-me à vez. Por fim, quando não restasse quase nada de mim, Louise podia calçar as suas luvas de boxe e acabar comigo para a contagem final.
Então poderiam contar até mil sem que eu me levantasse.
Algumas horas depois, abri o meu buraco no gelo e meti-me na água gelada. Nessa manhã, forcei-me a ficar lá dentro bastante mais tempo que de costume.
Jansson apareceu a horas, mas não tinha nada para mim, nem eu para ele. Quando se preparava para partir, lembrei-me de que ele se queixara de dores de dentes, já há séculos.
- Como vão os seus dentes? Jansson mostrou-se surpreendido:
- Que dentes?
Não perguntei mais nada. O hidrocóptero sumiu-se nas brumas.
Ao regressar do pontão, parei ao pé do barco e levantei a lona. O casco estava a apodrecer. Se o deixasse ao abandono por mais um ano, já não teria reparação possível.
Nesse mesmo dia escrevi outra carta a Louise. Pedi desculpa por tudo aquilo de que me lembrava e também por tudo o que esquecera, e por todas as irritações que lhe traria no futuro. Concluí a carta com algumas linhas acerca do barco:
"Tenho um velho barco de madeira, que pertencia ao meu avô. Está apoiado em cavaletes, tapado por uma lona.
É uma vergonha o barco estar tão maltratado. Não cuidei
dele como deve ser. Penso muitas vezes que, desde que vim viver para esta ilha, também tenho estado apoiado em cavaletes, tapado por uma lona. Nunca conseguirei
consertar o barco até me ter consertado a mim próprio."
182
Dois dias depois entreguei a carta a Jansson e, na semana seguinte, ele trouxe-me uma resposta. Após alguns dias de degelo, tinha arrefecido outra vez. O inverno recusava-se a libertar-nos. Sentei-me à mesa da cozinha para ler a carta. Tinha fechado o cão e a gata lá fora; por vezes, não conseguia suportar vê-los.
Louise escrevera: "Às vezes sinto que passei a minha vida com os lábios secos e gretados. Essas foram as palavras que me ocorreram uma manhã em que a vida parecia pior que de costume. Não preciso de te falar da vida que levei, porque já tens uma ideia de como foi. Dar pormenores não mudaria nada. Agora estou à procura de uma maneira de viver com o conhecimento de que tu existes, o troll que emergiu da floresta e revelou ser o meu pai. Embora saiba que Harriet devia ter explicado, não consigo evitar sentir-me zangada também contigo. Quando saíste de rompante, foi como se me tivesses dado um murro na cara. Primeiro, a tua partida foi um alívio. Mas depois o sentimento de vazio tornou-se insuportável. Portanto espero que possamos arranjar maneira de nos tornarmos amigos, pelo menos, um destes dias."
Assinava com um L ornamentado.
Que confusão, pensei para comigo. Louise tinha todas as razões do mundo para dirigir a sua fúria contra nós os dois.
O inverno arrastou-se, com cartas a circular entre a caravana e a ilha. Ocasionalmente recebia uma carta de Harriet, que entretanto tinha regressado a Estocolmo. Não me foi explicado como lá chegara. Dizia que se sentia muito cansada, mas a recordação da lagoa da floresta e o facto de Louise e eu nos termos finalmente conhecido davam-lhe forças para continuar. Eu fazia-lhe perguntas acerca do seu estado de saúde, mas nunca recebia resposta.
As suas cartas eram caracterizadas por uma resignação tranquila, quase reverente, em forte contraste com o que Louise escrevia, em cujas entrelinhas havia sempre uma sugestão de raiva iminente.
Todas as manhãs, ao acordar, resolvia empreender uma tentativa séria de pôr a minha vida em ordem. Não podia permitir que os dias continuassem a suceder-se sem que fizesse nada de construtivo.
183
Mas não chegava a lado nenhum. Não tomava decisões. Volta e meia levantava a lona que cobria o barco e tinha a impressão de estar de facto a olhar para mim próprio. A pintura a escamar era minha, bem como as rachas e a humidade. Talvez até o odor a madeira que ia apodrecendo aos poucos.
Os dias tornaram-se mais longos. As aves migratórias começaram a regressar. Normalmente, os bandos passavam durante a noite. Pelos binóculos, via aves marinhas na orla do gelo.
O meu cão morreu a 19 de abril. Deixei-o sair, como de costume, quando desci à cozinha, logo de manhã. Percebi que ele estava com dificuldade em sair do seu cesto, mas pensei que sobreviveria ao verão. Após o meu mergulho habitual pelo buraco do gelo, fui à casa dos barcos buscar umas ferramentas de que precisava para reparar uma fuga num cano da casa de banho. Achei estranho que o cão não tivesse aparecido, mas não fui à procura dele. Só à hora de jantar me apercebi de que não o vira durante todo o dia. Até a gata parecia preocupada. Estava sentada nos degraus, à porta da frente, com um ar pensativo. Saí e chamei por ele, mas ele não veio. Compreendi que devia ter acontecido alguma coisa. Vesti um casaco e fui à sua procura. Passada quase uma hora, encontrei-o no outro lado da ilha, junto das formações rochosas invulgares que se erguiam para o céu como pilares gigantescos. Estava deitado numa pequena depressão, abrigado do vento. Não sei quanto tempo fiquei a olhar para ele. Tinha os olhos abertos, cintilando como cristais, tal e qual como a gaivota que encontrara no princípio do inverno, morta de frio ao lado do pontão.
O cão tinha conseguido esconder-se do vento, mas não havia maneira de se esconder da morte.
Levei o corpo nos braços até casa. Era mais pesado do que esperava. Os mortos são sempre pesados. Fui buscar uma picareta e abri lentamente um buraco bastante grande por baixo da macieira. A gata permaneceu nos degraus, a observar todo o processo. O corpo do cão estava rígido, quando o empurrei para o fundo do buraco, que depois tapei.
Encostei a picareta e a pá à parede da casa. O nevoeiro da manhã tinha voltado, mas agora os meus olhos também estavam enevoados. Chorava o meu animal de estimação.
184
Anotei a morte no meu diário e calculei que o cão tinha nove anos e três meses. Comprara-o, em cachorro, a um dos velhos pescadores das traineiras, que criavam cães
de ascendência duvidosa.
Durante algum tempo ponderei a possibilidade de adquirir I outro cão, mas o futuro era demasiado incerto. A minha gata também não viveria muito mais tempo. Então
não haveria nada que me prendesse à ilha, se não quisesse continuar lá.
Escrevi a Louise e a Harriet, contando a morte do cão. Desfiz-me em lágrimas de ambas as vezes.
Louise compreendeu como eu devia sentir a falta do animal, enquanto Harriet perguntou como era possível sentir-me triste com a morte de um cão velho e aleijado,
que estava finalmente em paz.
As semanas iam passando e eu ainda não tinha começado a trabalhar no barco. Era como se estivesse à espera de que acontecesse alguma coisa. Talvez devesse escrever
uma carta a mim próprio, explicando quais eram os meus planos para o futuro?
Os dias tornaram-se ainda mais longos. A neve nas fendas de rocha começou a derreter. Mas o mar continuava gelado.
Por fim, o gelo começou a ceder. Um dia, acordei para encontrar canais navegáveis a correr até ao mar aberto. Jansson apareceu no seu barco a motor; arrumara o hidrocóptero.
Tinha resolvido comprar um hovercraft para o próximo inverno. Não sei ao certo se compreendi o que era um hovercraft, apesar de ele me ter fornecido uma descrição
detalhada, sem que eu lha tivesse pedido. Suplicou-me que examinasse o seu ombro esquerdo. Não sentia ali um alto? Seria um tumor?
Não era nada. Jansson continuava são como um pêro.
Nesse mesmo dia tirei a lona de cima do barco e comecei a raspar o casco. Consegui limpar toda a tinta velha da popa.
A minha intenção era continuar no dia seguinte. Mas aconteceu uma coisa que me impediu de o fazer. Quando desci para ir tomar o meu banho matinal, descobri um pequeno
barco a motor puxado para terra ao lado do pontão.
Estaquei, retendo a respiração.
A porta da casa dos barcos estava aberta.
Alguém viera visitar-me.
185
CAPÍTULO 2
Uma luz brilhou na casa dos barcos. Sima emergiu da escuridão, empunhando a espada.
- Já pensava que você nunca mais ia acordar.
- Como chegaste aqui? Que barco é aquele que puxaste para terra ao lado do pontão?
- Trouxe-o.
- Trouxeste?
- Do porto. Estava trancado. Mas ainda não foi inventada uma corrente capaz de me deter.
- Quer dizer que roubaste o barco?
A gata viera até ao pontão e observava Sima de longe.
- Onde está o seu cão?
- Está morto.
- Como assim, morto?
- Morto. Só há uma espécie de morto. Quando se está morto, não se está vivo. Não vivo. Morto. O meu cão está morto.
- Tive um cão, a certa altura. Também está morto.
- Os cães morrem. A minha gata também não viverá muito mais tempo. É velha, como ele.
- Vai abatê-la? Tem uma espingarda?
- Nem sonharia em dizer-te tal coisa. Quero saber o que estás aqui a fazer e por que motivo roubaste um barco.
- Queria vê-lo.
- Porquê?
- Porque não gostei de si.
186
- Querias ver-me porque não gostas de mim?
- Quero saber porque é que não gosto.
- Estás doida. Como é que sabes manobrar um barco?
- Passei uns tempos num reformatório nas margens do Lago Váttern. Tinham um barco.
- Como soubeste onde eu vivia?
- Perguntei a um velho que estava a varrer as folhas à porta da igreja. Não foi difícil. Perguntei por um médico que se tinha escondido numa ilha. Disse-lhe que era sua filha.
Desisti. Ela tinha resposta para todas as perguntas. Hugo Pers-son tinha sido contratado para manter o adro da igreja em boa ordem e eu sabia que era coscuvilheiro. Presumivelmente, explicara à rapariga como chegar à ilha. Não era difícil: em frente até Mittbaden, onde ficava o farol, depois pelo canal de Järnsundet, com escarpas altas de ambos os lados, até à minha ilha, onde havia dois postes perto das rochas, à entrada da enseada que dava para a casa dos barcos.
Percebi que ela estava cansada. Tinha os olhos mortiços, o rosto pálido, o cabelo descuidadamente apanhado com travessões baratos. Estava vestida de preto da cabeça aos pés e os seus ténis tinham uma risca vermelha.
- Vem comigo lá para dentro - propus. - Deves estar com fome. Arranjo-te qualquer coisa para comer. Depois telefono à guarda costeira e informo que estás aqui, e que roubaste um barco. Podem vir cá buscar-te.
Ela não respondeu, nem me ameaçou com a espada. Quando nos instalámos na cozinha, perguntei-lhe o que queria.
- Papas de aveia.
- Julgava que já ninguém comia papas de aveia.
- Não sei o que as pessoas fazem. Mas quero papas de aveia. Sei fazê-las sozinha.
Tinha aveia e uma lata de sumo de maçã que ainda não passava muito do prazo de validade. Sima preparou umas papas de aveia muito espessas, afastou a lata de sumo de maçã e encheu a tigela com leite. Comeu devagar. Pousara a espada em cima da mesa. Perguntei-lhe se queria café ou chá. Ela abanou a cabeça.
187
Só queria papas de aveia. Tentei perceber por que motivo viera à ilha visitar-me. Que quereria? Da última vez que nos tínhamos visto, precipitara-se para mim brandindo
a espada acima da cabeça. Agora estava sentada à minha mesa de cozinha, a comer papas de aveia. Não fazia sentido. Lavou a tigela e pousou-a no escorredor.
- Estou cansada. Preciso de dormir um bocado.
- Há uma cama naquela sala. Podes dormir lá. Mas devo avisar-te de que há um formigueiro lá dentro. E, como é primavera, as formigas já estão ativas.
Ela acreditou em mim. Duvidara da morte do meu cão, mas acreditou no que eu lhe dizia acerca do formigueiro. Apontou para o sofá da cozinha.
- Posso dormir ali.
Dei-lhe uma almofada e um cobertor. Ela não se despiu, nem descalçou os sapatos; limitou-se a puxar o cobertor para cima da cabeça e adormeceu. Esperei até ter a certeza, depois fui vestir-me.
Acompanhado pela gata, voltei à enseada. O barco era um Ryd com motor Mercury fora de borda, de 25 h.p. O fundo do barco tinha raspado fortemente nas rochas do leito marinho. Não havia dúvidas de que ela puxara deliberadamente o barco para terra. Tentei ver se havia rasgões no plástico, mas não encontrei quaisquer buracos.
Era dia de correio: Jansson repararia no barco. Dispunha de poucas horas para decidir o que fazer. Não era certo que fosse telefonar de facto à guarda costeira.
Se possível, preferia persuadi-la a voltar para junto de Agnes sem envolver as autoridades. Também tinha de pensar nos meus próprios interesses. Não era nada apropriado um velho médico ser visitado por raparigas fugitivas que roubavam barcos.
Com o auxílio de um croque e de uma prancha a servir de alavanca, consegui pôr o barco de novo na água. Utilizei o croque para o puxar para o pontão e amarrei-o à popa do meu pequeno barco a remos. Havia uma ignição elétrica, mas precisava de chave e escusado será dizer que esta não estava na ignição quando Sima roubara o barco. Ela usara o cordão e eu fiz o mesmo. O motor arrancou à quarta tentativa. A hélice e o pinhão não estavam danificados. Afastei-me do pontão em marcha à ré e rumei a dois
188
recifes rochosos conhecidos como os Suspiros. Entre os dois havia um pequeno porto natural, escondido da vista. Por agora, podia deixar lá o barco roubado.
Não se sabe por que motivo os dois recifes são conhecidos como os Suspiros. Jansson afirma que, há muito tempo, havia nesta região um caçador chamado Masse, que suspirava sempre que abatia um êider.
Não sei se é verdade. Os recifes não estão assinalados com qualquer nome em nenhum dos meus mapas. Mas agrada-me a ideia de rochas nuas, erguendo-se no mar, serem chamadas Suspiros. Por vezes tem-se a impressão de que as árvores sussurram, as flores murmuram, os arbustos trauteiam melodias desconhecidas e as rosas silvestres nas fendas de rocha atrás da macieira da minha avó tocam belas canções em instrumentos invisíveis. Então porque não haviam os recifes de suspirar?
Demorei quase uma hora a remar de novo até ao pontão. Não havia a menor hipótese de tomar o meu banho matinal naquele dia. Voltei para casa. Sima estava a dormir debaixo do cobertor. Não se mexera desde que se deitara. Estava a olhar para ela quando ouvi o ruído pulsante do barco de Jansson. Desci outra vez ao pontão e esperei-o. Soprava uma brisa suave de nordeste, a temperatura andava pelos cinco graus positivos e a primavera ainda parecia muito distante. Avistei um lúcio perto da extremidade do pontão, mas logo desapareceu.
Naquele dia Jansson tinha problemas no couro cabeludo. Receava estar a ficar careca. Sugeri-lhe que consultasse um cabeleireiro. Em vez disso, ele desdobrou uma folha que arrancara de uma revista semanal qualquer e pediu-me que a lesse. Tratava-se de um anúncio de página inteira, publicitando uma poção milagrosa que prometia resultados imediatos; reparei que um dos ingredientes era alfazema. Lembrei-me da minha mãe e disse a Jansson que não devia acreditar em tudo o que via em anúncios dispendiosos.
- Quero um conselho seu.
- Já lho dei. Consulte um cabeleireiro. Saberá certamente mais do que eu acerca de queda de cabelo.
189
- Não aprendeu nada acerca de calvície quando estudou medicina?
- Não muito, confesso.
Jansson tirou o boné e inclinou a cabeça, como se pretendesse i subitamente exprimir subserviência. Tanto quanto podia ver, o seu cabelo era espesso e saudável, incluindo no cimo da cabeça.
- Não vê que está a ficar mais ralo?
- Isso é perfeitamente natural, quando se envelhece.
- A acreditar naquele anúncio, está enganado.
- Nesse caso, sugiro que encomende o produto e o esfregue no couro cabeludo.
Jansson amarrotou a folha.
- Às vezes duvido que seja realmente médico.
- Como queira. Mas sou capaz de distinguir uma pessoa com verdadeiras dores e mal-estar de um carteiro hipocondríaco.
Ele preparava-se para responder quando o seu olhar se desviou do meu rosto e focou-se em algo atrás de mim. Virei-me. Sima estava ali. Tinha a gata nos braços e a espada de samurai suspensa do cinto. Não disse nada, limitou-se a sorrir. Jansson ficou a olhar, boquiaberto. Dentro de poucos dias, todo o arquipélago saberia que eu recebera a visita de uma jovem com olhos escuros, cabelo desgrenhado e uma espada de samurai.
- Acho que vou encomendar mesmo a loção - declarou Jansson num tom amistoso. - Não o incomodo mais. Hoje não tenho correio para si.
Fiquei a vê-lo afastar-se do pontão. Quando me virei, Sima enca-minhava-se para casa. Pousara a gata no chão, a meio do caminho.
Quando entrei, fui encontrá-la sentada à mesa da cozinha, a fumar.
- Onde está o barco? - perguntou ela.
- Levei-o para um sítio onde não pode ser visto.
- Com quem é que estava a falar, lá em baixo no pontão?
- Chama-se Jansson e entrega o correio no arquipélago. Não foi nada bom que ele te visse aqui.
- Porquê?
- Porque é coscuvilheiro. Fala demais.
190
- Isso não me incomoda.
- Não vives aqui. Mas eu vivo.
Sima apagou o cigarro num dos velhos pires de café da minha avó. Isso não me agradou.
- Sonhei que estava a despejar um formigueiro em cima de mim. Tentei defender-me com a espada, mas a lâmina partiu-se.
Então acordei. Porque tem um formigueiro naquela sala?
- Não havia qualquer razão para lá ires.
- Achei muito fixe. Metade da toalha já foi engolida. Daqui a uns anos, toda a mesa estará tapada.
De súbito, reparei numa coisa que ainda não notara. Sima estava agitada. Os seus movimentos eram nervosos e, quando a observei pelo canto do olho, vi que estava
a esfregar os dedos uns nos outros.
Ocorreu-me que, há muitos anos, vira aquele mesmo comportamento estranho e nervoso dos dedos num doente cuja perna tivera de amputar, devido a complicações provocadas
pela diabetes. O homem tinha um medo agudo dos germes e era mentalmente instável, sofrendo de depressões profundas.
A gata saltou para cima da mesa. Dantes enxotava-a sempre dali e obrigava-a a voltar para o chão, mas de há uns anos para cá deixara de o fazer. A gata derrotara-me.
Afastei a espada, para que ela não ferisse as patas. Quando toquei no punho da espada, Sima estremeceu. A gata enrolou-se numa bola sobre a toalha encerada e pôs-se
a ronronar. Sima e eu ficámos a olhar para ela, em silêncio.
- Despeja o saco - disse eu, por fim. - Diz-me por que estás aqui e onde pensas ir. Depois podemos procurar a melhor maneira de resolvermos a situação, sem problemas
desnecessários.
- Onde está o barco?
- Fundeei-o numa pequena angra, entre duas ilhotas conhecidas como Suspiros.
- Porque havia alguém de chamar suspiro a uma ilha?
- Há aqui um recife chamado Fundo de Cobre. E uns baixios ao largo de Bogholmen chamam-se Peido. As ilhas têm nomes, tal como as pessoas. As vezes ninguém sabe de onde esses nomes vêm.
- Então escondeu o barco?
- Escondi.
191
- Obrigada.
- Não sei se é motivo para agradecer. Mas se não me contareM tudo rapidamente, pego no telefone e ligo para a guarda costeira. Põem-se aqui em meia hora e levam-te.
- Se tocar no telefone, corto-lhe a mão. Respirei fundo e retorqui:
- Não queres tocar nessa espada, porque eu lhe mexi. Tens pavor dos germes. Aterroriza-te a ideia de o teu corpo ser invadido por doenças contagiosas.
- Não percebo o que está para aí a dizer.
Tinha acertado. Uma espécie de estremecimento invisível percorreu-lhe o corpo. A sua carapaça exterior fora penetrada. De maneira que contra-atacou. Agarrou na minha velha gata pelo cachaço e arremessou-a em direção à caixa de lenha. Depois desatou a gritar comigo na sua língua materna. Fitei-a e tentei dizer a mim próprio que ela não era minha filha, não era responsabilidade minha.
De súbito, parou de gritar.
- Não vais pegar na espada? Não vais empunhá-la? Cortar-me em pedaços?
- Por que é tão horrível?
- Ninguém trata a minha gata como tu fizeste.
- Não suporto pelo de gato. Sou alérgica.
- Isso não te dá o direito de matares a minha gata. Levantei-me para deixar sair a gata, que estava sentada junto
à porta da rua, a olhar-me com desconfiança. Saí com ela, pensando que Sima talvez precisasse de ficar sozinha por um bocado. O sol rompera a camada de nuvens, reinava uma calma absoluta e estava a ser o dia de primavera mais quente até então. A gata desapareceu na esquina da casa. Espreitei subrepticiamente pela janela. Sima estava diante do lava-loiça, a lavar as mãos. Depois enxugou-as cuidadosamente, limpou o punho da espada com a toalha e repôs a arma em cima da mesa.
No que me dizia respeito, Sima era uma pessoa totalmente incompreensível. Não conseguia imaginar o que lhe ia na cabeça. Não fazia a menor ideia.
192
Voltei lá para dentro. Ela estava sentada à mesa, à espera. Não falei da espada. Sima olhou para mim e declarou:
- Chara. É o nome que gostava de ter.
- Porquê?
- Porque é bonito. Porque é um telescópio. Fica em Mount Wilson, perto de Los Angeles. Hei de lá ir, antes de morrer. Veem-se as estrelas através do telescópio. E outras coisas que não dá para imaginar. Esse telescópio é mais potente do que qualquer outro.
Começou a sussurrar, como se estivesse em êxtase ou quisesse confiar-me um segredo altamente valioso.
- É tão potente que se pode estar aqui na Terra e distinguir uma pessoa na lua. Gostava de ser essa pessoa.
Intuí o que ela queria dizer. Uma rapariguinha perturbada, que fugia de tudo, especialmente de si própria, pensava que embora fosse invisível aqui na Terra, podia tornar-se visível através desse potente telescópio.
Tive a sensação de começar a captar um pequeno fragmento da natureza dela. Tentei alimentar a conversa, falando dos céus estrelados que tínhamos ali nas ilhas, nas noites límpidas e sem lua do outono. Mas ela fechou-se de novo na sua concha, recusando-se a falar; parecia arrependida de ter dito o que dissera.
Ficámos em silêncio. Depois perguntei-lhe mais uma vez por que motivo ali fora.
- Petróleo - foi a resposta. - Tenciono ir para a Rússia e enriquecer. Há petróleo na Rússia. Depois voltarei para cá e tornar-me-ei piromaníaca.
- Que tencionas incendiar?
- Todas as casas onde fui obrigada a viver, contra a minha vontade.
- Tencionas incendiar a minha casa?
- É a única que deixarei em paz. Esta e a de Agnes. Mas incendiarei todas as outras.
Aquela rapariga era doida. Além de andar por aí brandindo uma espada mortal, ainda tinha as ideias mais disparatadas acerca do seu futuro.
193
Aparentemente, ela leu-me os pensamentos:
- Não acredita em mim?
- Para ser franco, não.
- Então pode ir para o diabo.
- Ninguém fala assim em minha casa. Posso chamar a guardaB costeira aqui mais depressa do que julgas.
Bati com o punho no velho pires de café da minha avó, que SimaB utilizara como cinzeiro. Os estilhaços de porcelana voaram pela cozinha. Mas a rapariga não se mexeu, como se a minha explosão não tivesse nada a ver com ela.
- Não quero que se zangue - afirmou ela calmamente. - Só quero passar uma noite aqui. Depois vou-me embora.
- Por que vieste cá?
A sua resposta apanhou-me de surpresa:
- Mas você convidou-me a vir.
- Não me lembro disso.
- Disse que duvidava muito que eu viesse cá. Quis provar-lhe que estava enganado. Além disso, estou a caminho da Rússia.
- Não acredito numa só palavra. Não consegues dizer-me a verdade?
- Não creio que queira ouvi-la.
- Porque não?
- Porque julga que tenho a espada comigo? Quero poder defender-me. Houve tempos em que não podia. Quando tinha onze anos.
Compreendi que aquilo devia ser verdade. A sua vulnerabilidade transparecia através da raiva.
- Acredito em ti. Mas por que vieste cá? Não podes estar a falar a sério, quando dizes que estás a caminho da Rússia?
- Sei que terei sucesso por lá.
- Que irás fazer? Procurar petróleo cavando com as mãos nuas? Nem sequer te deixarão entrar no país. Porque não ficas com Agnes?
- Tenho de avançar. Deixei um bilhete a dizer que ia para norte.
- Mas isto é no sul!
194
- Não quero que ela me encontre. As vezes, parece um cão. Consegue farejar quem quer que fuja. Não quero aqui ficar muito tempo, só um bocadinho. Depois vou-me embora.
- Deves compreender que isso não é possível.
- Deixo-o fazer, se me der autorização para ficar.
- Deixas-me fazer o quê?
- O que acha?
De súbito, percebi o que ela estava a oferecer.
- Quem julgas que sou? Vou esquecer que disseste isso. Não ouvi nada.
Fiquei tão zangado que saí porta fora. Pensei nos boatos que Jansson estava sem dúvida a espalhar pelas ilhas todas. Passaria a ser Fredrik, o homem que tirava secretamente partido de jovens importadas de um país árabe qualquer.
Sentei-me no pontão. O que Sima dissera envergonhava-me, mas também me entristecia. Começava a compreender a escala dos fardos que ela carregava sobre os ombros.
Passado um bocado, ela veio até ao pontão.
- Senta-te aqui - convidei. - Podes cá ficar uns dias. Sentia a sua ansiedade. Tinha as pernas a tremer. Não podia
pô-la na rua. Além disso, precisava de tempo para pensar. Agora, uma quarta mulher invadira a minha vida e precisava da minha ajuda, embora eu não fizesse a menor ideia de como prestar essa ajuda.
Jantámos o último bife de lebre do congelador. Sima brincou com a comida mais do que comeu. Não falou muito. Parecia cada vez mais preocupada. Não quis dormir na sala do formigueiro. Armei-lhe uma cama na cozinha. Pouco passava das nove quando ela declarou que queria deitar-se.
A gata teria de passar a noite na rua. Subi as escadas e estendi-me na cama, a ler. Na cozinha tudo estava tranquilo, mas a janela continuava iluminada. Sima ainda não apagara a luz. Quando fui fechar as cortinas do meu quarto, vi a gata sentada no feixe de luz da cozinha.
Também ela não tardaria a deixar-me. Era como se já se tivesse transformado num ser etéreo.
195
Estava a ler um dos livros do meu avô, de 1911, acerca de aves raras, sobretudo pernaltas. Devo ter adormecido sem apagar a luz. Quando abri os olhos ainda não
eram onze horas. Tinha dormido uma meia hora, no máximo. Levantei-me e entreabri as cortinas. A luz da cozinha estava apagada e a gata tinha
desaparecido. Preparava-me
para me deitar de novo, quando ouvi qualquer coisa. Vinham ruídos da cozinha. Abri a porta e apurei os ouvidos. Sima estava a chorar. Hesitei. Deveria ir lá abaixo?
Ela desejaria que a deixasse em paz? Passado um bocado, os soluços pareceram extinguir-se. Fechei a porta o mais silenciosamente que pude e voltei para a cama.
Sabia exatamente onde pôr os pés para evitar fazer ranger as tábuas do soalho.
O livro acerca de aves pernaltas tinha caído ao chão. Não o apanhei. Fiquei deitado, às escuras, a pensar no que devia fazer. A única atitude correta e adequada
era ligar à guarda costeira. Mas por que havia de tomar sempre atitudes corretas e adequadas? Resolvi telefonar a Agnes. Ela decidiria. Apesar de tudo, era ela a pessoa mais próxima de Sima nesta vida, se é que eu compreendera corretamente os factos.
Acordei pouco depois das seis da manhã, como de costume. O termómetro pendurado do lado de fora da janela do quarto indicava quatro graus positivos. Estava nevoeiro.
Vesti-me e desci as escadas. Caminhava com cuidado, pois presumia que Sima ainda estava a dormir. Pensei levar a cafeteira comigo para a casa dos barcos, onde tenho uma placa elétrica. Está lá desde o tempo do meu avô, que costumava ferver misturas de alcatrão e resina para vedar o seu barco.
A porta da cozinha estava entreaberta. Abri-a devagar, pois sabia que rangia. Sima estava deitada em cima da cama, em roupa interior. O candeeiro do canto, junto ao sofá, estava aceso e funcionava como um holofote, revelando que tanto o corpo dela como o lençol estavam cobertos de sangue.
Não podia acreditar no que via. Sabia que era verdade, mas, ainda assim, era como se não pudesse ter acontecido. Abanei-a, tentando reanimá-la, ao mesmo tempo que
procurava os golpes
196
mais profundos. Ela não usara a espada, mas uma das velhas facas de peixe do meu avô. Por alguma razão, que me deixava ainda mais desesperado, como se o tivesse
arrastado, àquele velho pescador simpático, para a sua terrível infelicidade. Gritei-lhe que acordasse, mas o seu corpo estava inerte, os olhos, fechados. Os ferimentos
piores encontravam-se em torno do abdómen, no estômago e nos pulsos. Estranhamente, também havia feridas na parte de trás da cabeça. Como ela conseguira apunhalar-se naquele sítio era uma coisa que me ultrapassava. O ferimento mais sério era no braço direito (na véspera tinha notado que ela era canhota). Devia ter perdido muito sangue. Improvisei uma compressa com toalhas da cozinha. Depois tomei-lhe o pulso. Estava fraco. Enquanto fazia tudo isso, ia tentando reanimá-la. Não sabia se também teria tomado comprimidos, ou talvez utilizado uma droga qualquer: na cozinha pairava um cheiro que não consegui reconhecer. Cheirei apressadamente um cinzeiro, outro dos velhos pires de café da minha avó, que ela tirara de um armário. Presumivelmente, tinha fumado haxixe ou erva. Amaldiçoei o facto de os meus instrumentos médicos estarem na casa dos barcos. Saí a correr, tropeçando na gata que estava sentada mesmo diante da porta, fui buscar uma braçadeira para medir a tensão arterial e voltei para a cozinha. A tensão dela estava muito baixa. O seu estado era grave.
Telefonei para a guarda costeira. Foi Hans Lundman quem atendeu. Costumava brincar com ele nos verões da minha infância. O seu pai, que era piloto, e o meu avô eram bons amigos.
Hans é um homem razoável. Sabe que as pessoas não ligam para a guarda costeira de madrugada se não se tratar de uma urgência.
- Que aconteceu?
- Tenho uma rapariga em minha casa que precisa de ser transportada imediatamente para o hospital.
- Está nevoeiro - respondeu Lundman -, mas estaremos aí dentro de meia hora.
Passaram trinta e dois minutos antes que ouvisse o ruído dos potentes motores do barco da guarda costeira. Foram os minutos mais longos da minha vida. Mais longos ainda do que quando fui assaltado em Roma e julguei que ia morrer. Sentia-me impotente.
197
Sima estava a deixar este mundo. Não tinha maneira de saber quanto sangue perdera. Não havia nada que pudesse fazer por ela, além de aplicar a compressa. Quando
se tornou evidente que os meus gritos para que acordasse não surtiam efeito, comprimi a boca contra o seu ouvido e sussurrei-lhe que tinha de viver, não podia deixar-se simplesmente morrer, não estava certo, não ali, na minha cozinha, não agora que a primavera chegara, não num dia como aquele que estava justamente a começar. Ela conseguiria ouvir-me? Não sabia. Mas continuei a sussurrar-lhe ao ouvido. Contei-lhe fragmentos de contos de fadas, que recordava da minha própria infância, falei-lhe dos cheiros deliciosos que enchiam a ilha quando o pilriteiro e o lilás floriam. Disse-lhe o que teríamos para o jantar e descrevi as aves notáveis que vadeavam à borda-d"água antes de saltarem para apanhar as suas presas. Falava para salvar a sua vida e também a minha: tinha um medo pavoroso de que ela morresse.
Ouvi Hans Lundman e o seu assistente aproximar-se e gritei-lhes que se despachassem. Depressa a transferiram da cama para uma maca e partimos sem demora. Corri para o barco apenas de meias, levando as minhas galochas de cano curto na mão. Não me detive a fechar a porta atrás de mim.
Rumámos ao nevoeiro. Lundman ia ao leme e perguntou-me em que pé estavam as coisas.
- Não sei. A tensão arterial está cada vez mais baixa. Navegávamos a todo o vapor, direitos à brancura. O assistente
de Lundman, que eu não conhecia, olhava para Sima, amarrada à maca, com uma expressão angustiada. Perguntei-me se estaria prestes a desmaiar.
Uma ambulância esperava-nos no cais. O nevoeiro branco envolvia tudo.
- Esperemos que ela aguente - disse Lundman quando partimos.
Parecia preocupado. Presumivelmente sabia por experiência quando uma pessoa estava à beira da morte.
Demorámos quarenta e três minutos a chegar ao hospital. A enfermeira da ambulância, sentada ao lado da maca, chamava-se Sonja
198
e andava pelos quarenta e tal anos. Pôs Sima a soro e trabalhava calma e metodicamente, comunicando de vez em quando com o hospital acerca do estado da doente.
- Ela tomou alguma coisa? Comprimidos?
- Não sei. Pode ter fumado erva.
- E sua filha?
- Não. Apareceu-me à porta, caída do céu.
- Entrou em contacto com a família dela?
- Não conheço a família. Ela vive num lar de acolhimento. Só a tinha visto uma vez. Não sei por que motivo veio ter comigo.
- Ligue para o lar de acolhimento.
Estendeu a mão para um telemóvel pendurado na parede da ambulância. Liguei para as informações, que passaram a chamada para a casa de Agnes. Quando fui parar ao atendedor, expliquei a situação com clareza, disse o nome do hospital para onde nos dirigíamos e deixei um número de telefone que Sonja me deu.
- Ligue outra vez - disse ela. - As pessoas acabam por acordar se continuar a tentar.
- É possível que ela esteja no barracão.
- Não tem telemóvel?
Mas eu não tinha forças para continuar a ligar.
- Não - respondi. - Não tem telemóvel. É uma mulher invulgar.
Só depois de Sima ter sido levada para as Urgências e de me ter sentado num banco do corredor, é que falei com Agnes. Ouvia a sua respiração ansiosa.
- Como está ela?
- Está muito mal.
- Diga-me exatamente o que se passa.
- Há risco de morte. Depende da quantidade de sangue que perdeu, da profundidade do trauma. Sabe se ela tomava comprimidos para dormir?
- Não me parece.
Passei o telefone à enfermeira.
- É a tutora da rapariga. Fale com ela. Expliquei que o caso é grave.
199
Pus-me a caminhar pelo corredor. Um homem de idade, nu da cintura para baixo, estava deitado numa maca, gemendo. As enfermeiras tentavam acalmar uma mãe histérica que segurava um bebé aos gritos nos braços. Continuei até chegar à entrada das Urgências. Uma ambulância, vazia e com as luzes apagadas, estava parada à porta. Pensei no que Sima dissera acerca do telescópio que era capaz de focar uma pessoa na superfície da lua. Tenta viver, sussurrei para mim mesmo. Chara, pequena Chara, talvez um dia sejas essa pessoa, que passava despercebida aqui na Terra, mas que chegou à lua e, de pé lá em cima, acenou para todos nós.
Era uma oração, ou talvez uma invocação. Sima, que jazia nos cuidados intensivos e tentava sobreviver, precisava de toda a ajuda que pudesse obter. Não acredito em Deus. Mas podemos criar os nossos próprios deuses quando precisamos deles.
Fiquei ali, a apelar a um lugar perto de Los Angeles chamado Mount Wilson. Se Sima sobrevivesse, pagar-lhe-ia a viagem até lá. Descobriria quem fora esse Wilson, o homem que dera o seu nome a uma montanha.
Não há nada que impeça um deus de ter um nome. Porque não havia o Criador de se chamar Wilson?
Se ela morresse, a culpa seria minha. Se tivesse ido à cozinha quando a ouvira chorar, talvez ela não se tivesse ferido. Sou médico, tinha obrigação de compreender. Mas, acima de tudo, sou um ser humano que tinha obrigação de reconhecer um pouco da enorme solidão que uma rapariguinha pode sentir.
Sem qualquer aviso, dei por mim a ansiar pelo meu pai. Tal não acontecia desde que ele morrera. A sua morte provocara-me uma enorme dor. Embora nunca tivéssemos conversado intimamente um com o outro, partilhávamos uma compreensão tácita. Ele vivera o suficiente para me ver ser bem sucedido no curso de medicina - e nunca ocultara a sua surpresa e o seu orgulho por isso. No fim da vida, quando estava confinado ao leito com um cancro terrivelmente doloroso que alastrara a partir de uma pequena mancha negra no calcanhar e espalhara por todo o seu corpo metástases que ele comparava a musgo sobre uma pedra, falava com frequência da bata branca que eu teria o privilégio de usar. O facto de essa bata
200
branca encarnar o seu conceito de poder parecia-me embaraçoso. Só mais tarde compreendi que ele me via como sendo aquele que I o vingaria: ele também usara um
casaco branco, mas todos o humilhavam. Eu seria o meio através do qual ele se vingaria. Ninguém humilhava um médico de bata branca.
Agora tinha saudades dele. E daquela viagem mágica à lagoa negra na floresta. Queria voltar atrás no tempo. Queria desfazer a maior parte da minha vida. A minha mãe também passou diante dos meus olhos. Alfazema e lágrimas, uma vida que eu nunca compreendera. Teria carregado uma espada invisível? Talvez estivesse na outra margem do rio da vida, a acenar a Sima?
Tentei falar também mentalmente com Harriet e Louise. Mas elas permaneceram em silêncio, como se achassem que eu devia ser capaz de resolver aquilo sozinho.
Voltei para dentro e encontrei uma pequena sala de espera que estava vazia. Passado algum tempo, fui informado de que Sima continuava em estado crítico. Ia ser transferida para uma enfermaria da unidade de cuidados intensivos. Partilhei o elevador com ela. Ambos os maqueiros eram negros. Um deles sorriu-me. Retribuí o sorriso e tive vontade de lhe falar acerca do notável telescópio de Mount Wilson. Sima estava deitada, de olhos fechados; tinha um tubo intravenoso e recebia oxigénio através de um cateter nasal. Inclinei-me e sussurrei-lhe ao ouvido:
- Chara, quando ficares boa, visitarás Mount Wilson e verás que há na lua uma pessoa extraordinariamente parecida contigo. Um médico veio dizer que nada era certo, mas que provavelmente teriam de operar e que Sima não estava a reagir a nada do que tinham tentado. Fez-me várias perguntas, mas tive de lhe dizer que não sabia se ela sofria de alguma doença ou se já tentara suicidar-se antes. A mulher que saberia responder a esse tipo de perguntas vinha a caminho. Agnes chegou pouco depois das dez. Dei por mim a pensar como conseguiria ela conduzir só com um braço. Teria um automóvel especialmente adaptado? Mas isso não tinha importância. Conduzi-a até à cama onde Sima jazia, protegida por uma cortina. Agnes começou a soluçar baixinho, mas eu não queria que Sima ouvisse aquilo, pelo que a tirei dali.
201
- Não há qualquer alteração - expliquei. - Mas o simples facto de você ter vindo torna tudo melhor. Tente falar com ela.
É preciso que ela saiba que está aqui.
- Ela ouvirá o que eu digo?
- Não sabemos. Mas podemos ter esperança.
Agnes falou com o médico. Nada de doenças, nada de medicação, nenhuma tentativa de suicídio anterior, tanto quanto ela sabia. O médico, que tinha mais ou menos a minha idade, disse que a situação continuava inalterada, mas ligeiramente mais estável desde que Sima fora internada. De momento não havia motivo para se preocupar indevidamente.
Agnes ficou aliviada. Havia uma máquina de café no corredor. Entre os dois, conseguimos reunir trocos suficientes para duas chávenas de um café horrível. Fiquei admirado com a destreza com que ela se despachava com uma só mão onde eu precisava de duas.
Contei-lhe o que tinha acontecido. Ela abanou lentamente a cabeça.
- Era bem capaz de ir a caminho da Rússia. Sima está sempre a tentar escalar montanhas. Nunca se contenta em seguir os caminhos normais, como todos nós.
- Mas porque teria vindo visitar-me?
- Você vive numa ilha. A Rússia fica do outro lado do mar.
- Mas quando chega à ilha onde vivo, tenta matar-se. Não compreendo.
- Nunca é possível ver até que ponto uma pessoa está estragada por dentro, só por olhar para ela.
- Ela disse-me algumas coisas.
- Então talvez faça uma ideia.
Por volta das três horas, uma enfermeira veio dizer-nos que o estado de Sima tinha estabilizado. Podíamos ir para casa, se quiséssemos. Ela telefonar-nos-ia se houvesse alguma alteração. Como não tínhamos para onde ir, ficámos no hospital o resto do dia e a noite toda. Agnes enroscou-se num sofá estreito e dormitou. Eu passei a maior parte da noite numa cadeira, a folhear revistas muito manuseadas, nas quais pessoas de que nunca ouvira falar, retratadas
202
em cores ofuscantemente vivas, proclamavam a sua importância ao mundo. De tempos a tempos íamos comer qualquer coisa, mas nunca nos afastámos por muito tempo.
Pouco depois das cinco da manhã, uma enfermeira veio à sala de espera para nos dizer que houvera uma alteração súbita. Sobreviera uma hemorragia interna grave e os cirurgiões estavam a preparar-se para operar, num esforço para estabilizarem a situação.
Tínhamo-nos deixado arrastar por um falso sentimento de segurança. Sima estava a escapar-nos de novo.
Às seis e vinte, o médico veio falar connosco. Tinha um aspeto muito cansado. Sentou-se numa cadeira e pôs-se a olhar para as mãos. Não tinham conseguido estancar a hemorragia. Sima estava morta. Nunca recuperara a consciência. Se precisássemos de apoio, o hospital dispunha de um serviço de aconselhamento.
Fomos os dois vê-la. Todos os tubos tinham sido removidos e as máquinas, desligadas. A palidez amarelada que faz com que os corpos de pessoas mortas há pouco tempo pareçam feitos de cera já lhe invadira o rosto. Não sei quantos mortos vi na minha vida. Vi pessoas a morrer, realizei autópsias, segurei cérebros humanos nas mãos. No entanto, fui eu quem se desfez em lágrimas; Agnes sofria tanto que não tinha qualquer reação. Agarrou-me no braço. Senti a sua força... e desejei que nunca me largasse.
Queria ficar no hospital, mas Agnes pediu-me para voltar para casa. Ela ficaria com Sima. Eu fizera tudo o que pudera e ela estava-me grata, mas queria ficar sozinha. Acompanhou-me ao táxi. Estava uma manhã linda, ainda bastante fria. Tussilagos amarelos orlavam o caminho que conduzia ao serviço de Urgências.
Tussilagos em flor, pensei para comigo. Naquele preciso momento, naquela manhã em que Sima jazia morta lá dentro. Por um breve momento, cintilara como um rubi. Agora era como se nunca tivesse existido.
A única coisa que me assusta na morte é a sua absoluta indiferença.
- A espada - lembrei. - E também tinha uma mala. Que quer que faça com essas coisas?
203
- Entrarei em contacto consigo - respondeu Agnes. - Não posso dizer quando. Mas sei onde posso encontrá-lo.
Fiquei a vê-la regressar ao hospital. Um anjo pesaroso, com um só braço, que acabara de perder uma das suas malvadas mas notáveis filhas.
Meti-me no táxi e disse para onde queria ir. O motorista lançou-me um olhar desconfiado. Dei-me conta de que estava com um aspeto bastante duvidoso, para não dizer mais. Roupa em desalinho, galochas de cano curto, barba por fazer e olhos encovados.
- Normalmente pedimos o pagamento adiantado para trajetos longos como esse - disse o homem. - Tivemos algumas más experiências.
Apalpei os bolsos e constatei que não trouxera sequer a minha carteira. Virei-me para o motorista.
- A minha filha acabou de morrer. Quero ir para casa. Será pago. Por favor conduza devagar e com cuidado.
Comecei a chorar. Ele não disse mais nada até pararmos ao pé do cais. Eram dez da manhã. Soprava uma brisa ligeira, que mal perturbava a água do porto. Pedi ao motorista que parasse diante do edifício de madeira pintada de vermelho que albergava a guarda costeira. Hans Lundman viu o táxi chegar e veio à porta. Pela minha cara, percebeu que as coisas não tinham acabado bem.
- Ela morreu - disse-lhe eu. - Hemorragia interna. Foi inesperado. Julgámos que ia safar-se. Preciso de te pedir mil coroas emprestadas para pagar o táxi.
- Pago com o meu cartão de crédito - declarou Lundman e dirigiu-se para o veículo.
O seu turno já acabara há várias horas. Compreendi que ficara a trabalhar na esperança de estar lá quando eu regressasse. Hans Lundman vivia numa das ilhas do arquipélago do sul.
- Levo-te a casa - disse ele.
- Não tenho dinheiro nenhum em casa - expliquei. - Terei de pedir a Jansson que vá ao banco fazer o levantamento.
- Quem quer saber de dinheiro numa altura destas? - retorquiu ele.
204
Sinto-me sempre à vontade quando estou no mar. O barco de Hans Lundman era um velho barco de pesca convertido, que avançava a um ritmo majestoso. Por vezes, o seu trabalho obrigava-o a andar depressa, mas caso contrário nunca se apressava.
Atracámos ao pontão. Estava sol e calor. A primavera chegara. Mas sentia-me vazio de sentimentos primaveris.
- Está um barco nos Suspiros - disse eu. - Fundeado. Foi roubado.
Ele compreendeu.
- Descobri-lo-emos amanhã - replicou. - Acontece que vou passar por lá cedo, em patrulha. Ninguém sabe quem o roubou.
Trocámos um aperto de mãos.
- Ela não devia ter morrido - desabafei.
- Pois não - respondeu Lundman. - Não devia mesmo. Fiquei no pontão, a vê-lo sair da enseada. Levantou a mão em
sinal de despedida e partiu.
Sentei-me no banco. Só muito depois voltei para minha casa, cuja porta da frente estava escancarada.
205
CAPÍTULO 3
Os carvalhos atrasaram-se invulgarmente este ano.
Registei no meu diário que o carvalho grande, entre a casa dos barcos e o que fora outrora a capoeira dos meus avós, só começou a ficar verde a partir de 25 de maio. O maciço de carvalhos em torno da enseada do norte da ilha, a enseada que, por qualquer razão incompreensível, fora sempre conhecida como Briga, tinha começado a deitar folha poucos dias antes.
Diz-se que os carvalhos destas ilhas foram plantados pelo estado no princípio do século XIX, para que houvesse madeira com fartura para os vasos de guerra que estavam a ser construídos em Karlskrona. Lembro-me de um raio atingir uma das árvores quando eu era pequeno e de o meu avô cortar o que restava do tronco. A árvore fora plantada em 1802 e o meu avô disse-me que era do tempo de Napoleão. Nessa altura, eu não fazia a menor ideia de quem era Napoleão, mas percebi que fora há muito tempo. Os anéis anuais do tronco tinham-me perseguido pela vida fora. Aquele carvalho era uma árvore jovem quando Beethoven vivia. Estava no apogeu quando o meu pai nascera.
Como acontece tantas vezes aqui no arquipélago, o verão foi chegando gradualmente, mas nunca se podia ter a certeza de que viera para ficar. Geralmente, o meu sentimento de solidão abrandava à medida que o tempo se tornava mais quente. Mas este ano isso não aconteceu. Estava para ali, com o meu formigueiro, uma espada afiada e a mala semivazia de Sima.
Falei frequentemente ao telefone com Agnes durante esse período. Ela disse-me que o funeral se realizara na igreja de Mogata. Tirando
206
Agnes e as duas raparigas que viviam com ela, as duas que eu tinha conhecido, Miranda e Aida, a única outra pessoa que assistira à cerimónia Ifora um homem muito velho, que afirmava ser um parente afastado de Sima. Chegara de táxi e tinha um aspeto tão frágil que Agnes receara que ele caísse morto a qualquer momento. Não conseguira perceber qual era ao certo o laço de parentesco que o ligava a Sima. Talvez a tivesse confundido com outra pessoa? Quando ela lhe mostrara uma fotografia
de Sima, ele não tivera a certeza de a reconhecer.
Mas que importância tinha isso?, observara Agnes. A igreja devia ter estado cheia de gente para se despedir daquela jovem que nunca tivera oportunidade de se descobrir a si própria ou de explorar o mundo.
O caixão fora adornado com rosas vermelhas. Uma mulher da paróquia, acompanhada ao órgão por um rapaz irrequieto, cantara dois hinos; Agnes dissera algumas palavras e pedira ao vigário para não se alongar desnecessariamente a falar de um Deus conciliador e omnisciente.
Quando ouvi dizer que a sepultura teria apenas um número, ofereci -me para pagar a lápide. Mais tarde, Jansson trouxe-me uma carta de Agnes com um esboço da pedra, com o aspeto que, na sua opinião, esta devia ter. Tinha desenhado uma rosa acima do nome e das datas. Telefonei-lhe nessa noite e perguntei-lhe se não deveria ser uma espada de samurai. Ela compreendeu o meu raciocínio e disse que também considerara essa hipótese.
- Mas isso causaria rebuliço - afirmou.
- Que devo fazer com os pertences dela? A espada e a mala?
- Que está na mala?
- Roupa interior. Um par de calças e uma camisola. Um mapa manhoso do Báltico e do Golfo da Finlândia.
- Irei aí buscá-las. Gostava de ver a sua casa. E, acima de tudo, quero ver o quarto onde tudo aconteceu.
- Já disse que devia ter ido à cozinha ter com ela. Sempre lamentarei não o ter feito.
- Não estou a acusá-lo de nada. Só quero ver o sítio onde ela começou a morrer.
Inicialmente planeava vir visitar-me na última semana de maio, mas surgiu um impedimento. Ainda cancelou a visita mais duas
207
vezes. Da primeira, porque Miranda tinha fugido; da segunda vez, porque ela própria tinha adoecido. Guardei a espada e a mala com as roupas de Sima na sala do formigueiro. Uma noite, acordei de um sonho no qual as formigas tinham engolido a mala e a espada na sua construção. Corri pela escada abaixo e abri bruscamente a porta. Mas as formigas continuavam a trepar e a conquistar a mesa de jantar e a toalha branca.
Levei os pertences de Sima para a casa dos barcos.
Um dia, Jansson contou-me que a guarda costeira tinha encontrado um barco a motor fundeado nos Suspiros. Hans Lundman fora fiel à sua palavra.
- Um destes dias caem-nos em cima - afirmou Jansson num tom ameaçador.
- Quem?
- Esses gangsters. Há-os por toda a parte. Que pode uma pessoa fazer para se defender? Saltar para o barco e fazer-se ao mar?
- Para que quereriam eles vir aqui? Que há aqui para roubar?
- A simples ideia faz-me preocupar com a minha tensão.
Fui buscar o monitor à casa dos barcos. Jansson estendeu-se no banco. Deixei-o repousar durante cinco minutos, depois apertei-lhe a braçadeira no braço.
- Está excelente. Cento e quarenta, oitenta.
- Acho que se enganou.
- Nesse caso, acho que devia arranjar outro médico.
Voltei para a casa dos barcos e fiquei lá, às escuras, até ouvir o barco afastar-se do pontão.
Enquanto os carvalhos não reverdeciam, ocupei os dias a arranjar finalmente o meu barco. Quando consegui levantar de novo a pesada lona, o que me custou um esforço considerável, encontrei um esquilo morto por baixo da sobrequilha. Fiquei admirado, pois nunca vira esquilos ali na ilha e nunca ouvira dizer que existissem por lá.
O barco estava em muito pior estado do que eu temia. Ao fim de dois dias a avaliar o que era preciso fazer, sentia-me capaz de desistir antes mesmo de ter começado. No entanto, no dia seguinte comecei a raspar toda a tinta velha e escamada do resto do casco. Telefonei a Hans Lundman e pedi-lhe conselhos. Ele prometeu
208
passar por lá um dia destes. Era um trabalho lento. Não estava habituado àquele tipo de esforço, sendo as minhas únicas ativida-des regulares um banho matinal e o ato de escrever no meu diário.
No mesmo dia em que comecei a raspar a tinta, fui desenterrar o diário que escrevera no primeiro ano que passara na ilha. Procurei a data equivalente à desse dia. Para minha grande surpresa, li: "Ontem bebi até ficar embrutecido." Nada mais. Agora lembrava-me de isso ter acontecido, mas apenas muito vagamente e sem fazer ideia porquê. No dia anterior anotara que tinha reparado uma goteira. No dia seguinte, lançara as redes e apanhara sete solhas-das-pedras e três percas.
Arrumei o diário. Entardecera. A macieira estava em flor. Imaginei a minha avó sentada no banco junto à árvore, uma figura tremeluzente que se fundia com a paisagem, o tronco da árvore, as rochas, o silvado.
No dia seguinte, Jansson trouxe-me cartas tanto de Harriet como de Louise. Tinha acabado por lhes contar da rapariga que viera à minha ilha e ao encontro da morte. Primeiro li a de Harriet; como sempre, era muito curta. Escrevia que estava demasiado cansada para escrever uma carta como deve ser. Li e franzi o sobrolho. A sua caligrafia era difícil de ler, muito mais do que dantes. As palavras pareciam contorcer-se com dores sobre o papel. E, para tornar as coisas ainda piores, o conteúdo era desconcertante. Afirmava que estava melhor, mas que se sentia pior. Não fazia qualquer referência à morte de Sima.
Pus a carta de lado. A gata saltou para cima da mesa. Por vezes, invejo os animais que não têm de se preocupar com correio perturbador. Harriet estaria atordoada pelos analgésicos quando escrevera? Preocupado, peguei no telefone e liguei-lhe. Se ela estava a deslizar para a fase final da sua vida, queria saber. Deixei o telefone tocar imenso tempo, mas não obtive resposta. Tentei o número do telemóvel. Nada. Deixei mensagem e pedi para me ligar.
Depois abri a carta de Louise. Falava do notável sistema de grutas de Lascaux, no oeste de França, onde, em 1940, uns rapazes depararam casualmente com pinturas rupestres com dezassete mil anos. Alguns dos animais representados nas paredes rochosas tinham
209
quatro metros de altura. Agora, escrevia ela, "essas antigas obras de arte correm o risco de ser destruídas porque uns loucos instalaram ar condicionado nas passagens, já que os turistas americanos não conseguem aguentar a temperatura! Mas as temperaturas muito baixas são essenciais à sobrevivência dessas pinturas rupestres. As paredes das grutas foram atacadas por uma estirpe de bolor que é difícil de combater. Se nada for feito, se o mundo não se unir em defesa disto, o museu de arte mais antigo que possuímos desaparecerá".
Tencionava agir. Presumi que escreveria a todos os políticos da Europa e senti-me orgulhoso. Tinha uma filha que estava disposta a guarnecer as barricadas.
A carta fora escrita em jatos curtos, em várias ocasiões. Tanto a caligrafia como a caneta utilizada iam variando. Entre parágrafos sérios e agitados, intercalara notas acerca de acontecimentos triviais. Tinha torcido o pé ao ir buscar água. Giaconelli estivera doente; suspeitara-se de pneumonia, mas agora já estava melhor. Solidarizava-se com a dor que eu sentira pela morte de Sima.
"Irei visitar-te brevemente", concluía. "Quero ver essa ilha onde te escondes há tantos anos. As vezes sonhava que tinha um pai que era tão assustadoramente bem-parecido como Caravaggio. Isso não é coisa de que alguém possa acusar-te. Mesmo assim, não podes continuar a esconder-te de mim. Quero conhecer-te, quero a minha herança, quero que me expliques todas as coisas que ainda não compreendo."
Nem uma palavra acerca de Harriet. Não se importaria com a mãe, que estava ocupada a morrer?
Tentei novamente os números de Harriet, mas sempre sem resposta. Liguei para o telemóvel de Louise, mas também aí ninguém atendeu. Subi a colina por trás da casa. Estava um belo dia de princípio de verão. Ainda não fazia verdadeiramente calor, mas as ilhas tinham começado a reverdecer. Ao longe via-se um dos primeiros barcos à vela, a caminho de um destino desconhecido e oriundo de um porto igualmente ignorado. Senti um impulso repentino de me arrastar para fora daquela ilha. Tinha passado tanto tempo da minha vida a andar para trás e para a frente, entre o pontão e a casa.
Só queria escapar. Quando Harriet aparecera no gelo, com o seu andarilho, estilhaçara a maldição que eu permitira que me
210
prendesse ali, como se estivesse numa jaula. Compreendi que os doze anos que vivera na ilha tinham sido desperdiçados, como um líquido que se escoou de um recipiente rachado. Não era possível voltar atrás, começar de novo.
Caminhei em redor da ilha. Havia um odor pungente a mar e terra. Ostraceiros cheios de vida corriam de um lado para o outro à beira-mar, picando com os seus bicos vermelhos. Sentia-me como se estivesse a andar às voltas no pátio de uma prisão, poucos dias antes de poder transpor os portões e tornar-me novamente num homem livre. Mas faria isso? Para onde podia ir? Que tipo de vida me esperaria?
Sentei-me à sombra de um dos carvalhos da Briga. Dei-me conta de que estava cheio de pressa. Não tinha tempo a perder.
Nessa tarde, remei até Starrudden. O fundo marinho era liso naquele sítio. Lancei uma rede para solhas-das-pedras, mas sem grande esperança de apanhar alguma coisa; talvez apenas uma ou outra solha-das-pedras ou perca, que seria apreciada pela gata. A rede viria carregada das algas pegajosas que agora proliferam no Báltico.
Talvez aquele mar que se estendia diante de mim, naquelas tardes bonitas, estivesse de facto a deteriorar-se lentamente e a transformar-se num pântano?
Nessa noite fiz uma coisa que nunca conseguirei compreender. Fui buscar uma pá e abri a sepultura do meu cão. Desenterrei completamente o cadáver. As larvas já tinham comido as membranas mucosas em redor da boca, olhos e orelhas, e aberto o estômago. Havia um cacho branco delas em redor do ânus. Pousei a pá e fui buscar a gata, que dormia a sono solto no sofá da cozinha. Levei-a até à sepultura e pousei-a ao pé do cão morto. Ela deu um enorme salto no ar, como se tivesse sido mordida por uma víbora, e fugiu a correr até à esquina da casa, onde se deteve sem saber se devia continuar a fugir. Agarrei num punhado de larvas gordas e ponderei a possibilidade de as comer - ou seria que a náusea se revelaria demasiado forte para mim? Depois atirei-as de novo para cima do corpo do cão e tapei a cova o mais depressa que pude.
Não fazia sentido. Estaria a preparar-me para abrir uma sepultura semelhante dentro de mim? Para arranjar coragem suficiente
211
de enfrentar a sangue frio todas as coisas que me oprimiam há tanto tempo?
Passei horas a lavar as mãos debaixo da torneira da cozinha. Sentia-me enojado com o que fizera.
Por volta das onze horas, telefonei outra vez a Harriet e a Louise. Continuei sem obter resposta.
No dia seguinte, de manhã cedo, fui recolher a rede. Continha duas solhas-das-pedras esquálidas e uma perca morta. Tal como receava, a rede vinha carregada de lodo e algas. Demorei mais de uma hora a pô-la relativamente limpa e pendurei-a na parede da casa dos barcos. Ainda bem que o meu avô não vivera para ver o mar que tanto amava ser sufocado aos poucos. Depois retomei a tarefa de raspar a tinta do barco. Trabalhava seminu e tentei fazer as pazes com a gata, que se mostrava desconfiada depois do encontro da véspera com o cão morto. Não se interessou pelas solhas-das-pedras, mas levou a perca para uma cavidade nas rochas e pôs-se a mastigar.
Às dez horas voltei para casa e telefonei de novo. Sem resposta. Também não era dia de correio. Não havia nada que pudesse fazer.
Cozi dois ovos para o almoço e folheei uma velha brochura com anúncios de tintas adequadas para barcos de madeira. A brochura tinha oito anos.
Terminada a refeição, estendi-me no sofá da cozinha para descansar. Estava estoirado e não tardei a adormecer.
Era quase uma hora quando acordei sobressaltado. Pela janela aberta ouvia-se o barulho de um velho motor de ignição por compressão. Parecia o barco de Jansson, mas não era dia de ele lá ir. Levantei-me, enfiei os pés nas galochas de cano curto e saí. O ruído era cada vez mais forte. Já não tinha dúvidas de que se tratava do barco de Jansson. Faz um barulho irregular, porque de vez em quando o escape mergulha abaixo da superfície da água. Fui esperá-lo ao pontão. A proa acabou por aparecer por trás das rochas mais distantes. Constatei com surpresa que vinha a meio gás e que o barco se deslocava muito devagar.
Depois compreendi porquê: Jansson vinha a rebocar outra embarcação, uma velha jangada de transporte de gado, amarrada à popa do
212
seu barco. Em criança, tinha visto jangadas daquelas a levar vacas para as ilhas que tinham pastagens de verão. Não vira uma única daquelas embarcações nos doze anos que passara na ilha.
Na coberta da jangada vinha a caravana de Louise. Ela estava de pé à porta, tal e qual como da primeira vez que a vira. Depois avistei outra pessoa, agarrada ao anteparo. Era Harriet, com o seu andarilho.
Se pudesse, ter-me-ia atirado à água e nadado para longe. Mas não havia fuga possível. Jansson abrandou e soltou a amarra do reboque, dando um empurrão à jangada para que esta deslizasse em direção à parte mais baixa da enseada. Fiquei ali, paralisado, a vê-la deslizar para terra. Jansson fundeou o barco junto ao pontão.
- Nunca julguei que esta velha jangada voltasse a ter utilidade. Da última vez que a tirei, foi para levar dois cavalos a Rõkskár. Mas isso deve ter sido há uns vinte e cinco anos, se não mais.
- Podia ter telefonado - censurei. - Podia ter-me avisado. Jansson mostrou-se surpreendido.
- Pensei que sabia que elas vinham. Louise disse que as esperava. Podemos rebocar a caravana com o seu trator. Ainda bem que está maré alta, senão teríamos tido de a puxar pela água.
Aquilo explicava por que motivo ninguém atendera os meus telefonemas. Louise ajudou a mãe a desembarcar com o andarilho. Reparei que Harriet estava ainda mais magra e muito mais fraca do que quando as deixara, tão abruptamente, na caravana.
Desci com esforço até à beira-mar. Louise amparava Harriet pelo braço.
- É bonito, isto aqui - observou. - Prefiro a floresta. Mas isto é bonito.
- Suponho que devia dizer "sejam bem-vindas" - respondi. Harriet levantou a cabeça. Tinha o rosto coberto de suor.
- Se largar o andarilho, caio ao chão - disse ela. - Gostava de ir deitar-me na cama entre as formigas.
Ajudámo-la a caminhar até casa. Pedi a Jansson que visse se conseguia pôr o meu velho trator a trabalhar. Harriet estendeu-se na cama. Respirava pesadamente e parecia estar com dores. Louise deu-lhe um comprimido e foi buscar um copo de água. Harriet engoliu o comprimido com grande dificuldade. Depois olhou para mim.
213
- Não tenho muito mais tempo de vida - declarou. - Dá-me a mão.
Peguei na sua mão quente.
- Quero estar aqui, ouvir o mar e ter-vos aos dois junto de mim. É tudo. A velha senhora promete não te causar incómodos desnecessários. Nem sequer gritarei quando as dores se tornarem impossíveis de suportar. Quando isso acontecer, tomarei os meus comprimidos ou Louise dar-me-á uma injeção.
Fechou os olhos. Ficámos a olhar para ela. Não tardou a adormecer. Louise deu a volta à mesa, contemplando o formigueiro em contínuo crescimento.
- Quantas formigas há aqui? - sussurrou.
- Um milhão, talvez mais.
- Há quanto tempo tens isto?
- Vai no décimo primeiro ano. Saímos da sala.
- Podias ter telefonado - observei.
Ela postou-se à minha frente e segurou-me os ombros com firmeza.
- Se o tivesse feito, tu dirias que não. Não queria que isso acontecesse. Agora estamos cá. Deves isto à mãe e a mim, especialmente a ela. Se ela quer morrer a ouvir o mar, em vez de buzinas de automóveis, é isso mesmo que vai fazer. E podes ficar grato, porque assim não terei de passar o resto da tua vida a queixar-me do que fizeste.
Rodou nos calcanhares e saiu. Jansson conseguira pôr o trator a trabalhar. Tal como sempre desconfiara, tinha bastante jeito para ligar motores renitentes.
Atámos cordas à caravana e conseguimos descarregá-la da jangada. Jansson encarregava-se do trator.
- Onde quer que ela fique? - bradou.
- Aqui - respondeu Louise, apontando para uma zona de relva a seguir à estreita faixa de areia que havia do outro lado da casa dos barcos. - Quero uma praia só para mim - prosseguiu. - Sempre tive esse sonho.
Jansson deu provas de grande perícia com o trator, enquanto manobrava para colocar a caravana na posição desejada. Dispusemos
214
velhas caixas de peixe e pedaços de madeira onde foi preciso, para que ela ficasse nivelada e estável.
- Já está bem - declarou Jansson, num tom satisfeito. - Esta é a única ilha aqui onde há uma caravana.
- Obrigada. Está convidado para um café - disse Louise. Jansson olhou para mim. Fiquei calado.
Era a primeira vez que ele entrava lá em casa, desde que eu ali vivia. Observou a cozinha com um olhar inquisidor.
- Está tal e qual como me recordo - afirmou. - Não mudou grande coisa. Ou me engano muito, ou esta é a mesma toalha que o velho casal usava.
Louise fez café e perguntou-me se tinha pães de leite. Não tinha. Então ela foi à caravana, buscar qualquer coisa.
- É uma mulher muito elegante - observou Jansson. - Como conseguiu encontrá-la?
- Não a encontrei. Ela é que me encontrou a mim.
- Pôs algum anúncio à procura de uma mulher? Já pensei fazer isso.
Jansson não é propriamente rápido de espírito. Ninguém podia acusá-lo de se entregar a demasiada atividade cerebral. Mas era inacreditável que imaginasse que Louise era uma mulher que eu engatara, juntamente com a caravana e uma mãe moribunda.
- E minha filha - expliquei. - Já lhe tinha contado que tinha uma filha. Lembro-me perfeitamente. Estávamos sentados no banco, ao pé do pontão. Você estava com dores de ouvidos. Foi no outono passado. Contei-lhe que tinha uma filha adulta. Já se esqueceu?
Jansson não fazia ideia do que eu estava a falar. Mas não se atreveu a discutir. Não ousava correr o risco de perder o seu médico pessoal.
Louise regressou com um sortido de pães de leite e biscoitos. Jansson e a minha filha pareceram entender-se perfeitamente desde o primeiro momento. Teria de explicar a Louise que ela podia ser senhora da sua caravana, mas que, no que dizia respeito à minha ilha, ninguém além de mim tinha o direito de ditar leis. E uma das leis em vigor dizia que Jansson não podia, sob qualquer pretexto, ser convidado a tomar café na minha cozinha.
215
Jansson desapareceu atrás do promontório, rebocando a sua jangada de transporte de gado. Não perguntei a Louise quanto lhe pagara. Fomos dar uma volta pela ilha, enquanto Harriet dormia. Mostrei-lhe o sítio onde o meu cão estava enterrado. Depois dirigimo-nos para sul, trepando por cima das rochas e seguindo pela beira-mar.
Por pouco tempo, foi como se tivesse adotado uma criança pequena. Louise fazia-me perguntas acerca de tudo: as plantas, as algas, as ilhas próximas, que mal se distinguiam na bruma, os peixes nas profundezas do mar, que não se viam de todo. Suponho que só consegui responder a cerca de metade das suas perguntas. Mas isso não tinha importância para ela. O importante era eu ouvir o que ela dizia.
Havia uns penedos em Norrudden, um promontório no lado norte da ilha, que o gelo esculpira em forma de trono há séculos. Sentámo-nos.
- De quem foi a ideia? - perguntei.
- Acho que ambas a tivemos mais ou menos ao mesmo tempo. Estava na altura de te visitarmos e de a família se juntar antes que fosse demasiado tarde.
- Que disseram os teus amigos da floresta, lá no Norte, acerca disto?
- Sabem que voltarei para lá um dia destes.
- Porque trouxeste a caravana atrás de ti?
- É a minha concha. Nunca a deixo para trás.
Falou-me acerca de Harriet. Fora um dos amigos pugilistas de Louise, chamado Sture e que ganhava a vida fazendo furos para poços, quem a levara de novo para Estocolmo.
Depois piorara subitamente. Louise fora para Estocolmo, para cuidar da mãe, pois ela recusava-se a ir para uma casa de repouso. Louise insistira em ser autorizada a administrar ela própria os analgésicos de que Harriet precisava. Agora já só restavam os cuidados paliativos. Todos os esforços para evitar que o cancro alastrasse tinham sido abandonados. A contagem final já começara. Louise mantinha-se em contacto constante com as autoridades responsáveis pelos cuidados de saúde domésticos em Estocolmo.
Ficámos sentados nos nossos tronos, a olhar para o mar.
216
- Não a vejo a durar mais de um mês, no máximo - disse Louise. - Já estou a dar-lhe doses gigantescas de analgésicos. Vai morrer aqui. É melhor preparares-te para
isso. És médico, ou, pelo menos, foste. Estás mais familiarizado com a morte do que eu. Mas apercebi-me de que a morte é sempre um assunto solitário. No entanto,
podemos estar cá e ajudá-la.
- Ela tem muitas dores?
- Às vezes grita.
Retomámos a nossa caminhada pela beira-mar. Quando chegámos ao promontório que se estendia para o mar aberto, parámos de novo. O meu avô pusera ali um banco; fizera-o ele próprio, a partir de uma velha debulhadora e umas quantas pranchas toscas de madeira de carvalho. Quando discutia com a minha avó, como por vezes sucedia, ia para ali e ficava lá sentado até ela ir buscá-lo, dizendo que o jantar estava pronto. Por essa altura, a zanga já passara. Aos sete anos, gravei o meu nome no banco. O meu avô não ficou nada satisfeito, com certeza, mas nunca disse nada.
Eideres, negrelas e uns quantos mergulhões baloiçavam nas ondas.
- Há uma ravina submarina muito profunda mesmo ali à frente, no sítio onde estão as aves - expliquei. - A profundidade média é de quinze a vinte metros, mas ali há um abismo repentino, com cinquenta e seis metros de profundidade. Quando era pequeno, costumava largar uma fateixa do barco a remos e imaginava sempre que não tinha fundo. Recebíamos visitas de geólogos, que tentavam perceber a razão da existência do abismo. Tanto quanto sei, ninguém conseguiu arranjar uma resposta satisfatória. Isso agrada-me. Não tenho fé num mundo em que todos os enigmas são resolvidos.
- Eu acredito num mundo onde as pessoas resistem - retorquiu Louise.
- Presumo que estás a pensar nas tuas grutas francesas?
- Sim, e em muitas outras coisas.
- Escreveste cartas a protestar?
- As últimas foram para Tony Blair e o presidente Chirac.
217
- Responderam?
- Claro que não. Mas estou a ponderar outras formas de ação.
- O quê?
Ela abanou a cabeça. Não queria falar nisso. Prosseguimos o nosso passeio e detivemo-nos na casa dos barcos. O sol banhava a parede de sotavento.
- Cumpriste uma das promessas que tinhas feito a Harriet - disse Louise. - Agora ela tem outro pedido a fazer.
- Não vou voltar à lagoa da floresta.
- Não, ela quer que se faça uma coisa aqui. Uma festa de sols-tício de verão.
- Que significa isso? Louise irritou-se.
- Que pode significar uma festa de solstício de verão além do que as próprias palavras indicam? Uma festa que tem lugar no solstício de verão?
- Não estou habituado a dar festas aqui na ilha. Quer seja verão ou inverno.
- Então está na altura de te habituares. A Harriet quer sentar-se ao ar livre, num longo e ensolarado entardecer de verão, com uns quantos convidados, a comer boa comida, a beber bom vinho e, em seguida, voltar para a cama e morrer pouco depois.
- Isso pode arranjar-se, claro. Tu, eu e ela. Podemos pôr uma mesa grande no relvado, defronte dos maciços de groselha.
- Harriet quer convidados. Quer conhecer outras pessoas.
- Quem, por exemplo?
- Tu é que vives cá. Convida alguns dos teus amigos. Não têm de ser assim muitos.
Dito isto, Louise partiu para casa, sem esperar resposta. Podia convidar Jansson, Hans Lundman e a sua mulher, Romana, que trabalhava como assistente no balcão de carnes do grande mercado da cidade vizinha.
Harriet poderia participar da sua última ceia aqui, na minha ilha. Era o mínimo que podia fazer por ela.
218
CAPÍTULO 4
Choveu mais ou menos continuamente até ao solstício de verão. Criámos rotinas simples, baseadas na deterioração do estado de Harriet. Louise começou por dormir na caravana, mas quando Harriet gritou duas noites consecutivas, mudou-se para a minha cozinha. Ofereci-me para ajudar, dando os medicamentos a Harriet, mas Louise quis continuar a assumir essa responsabilidade. Dormia num colchão, que punha no chão da cozinha e guardava no vestíbulo todas as manhãs. Disse-me que a gata dormiria aos seus pés.
Harriet passava a maior parte do tempo a dormir, perdida num transe induzido pelas drogas. Não tinha apetite, mas Louise obrigava-a a engolir uma quantidade suficiente de alimento, com uma paciência sem limites. Fiquei tocado com a extraordinária ternura de que ela dava mostras para com a mãe. Era um lado da sua personalidade que ainda não tinha visto. Guardei as distâncias e nunca sonharia intervir.
A noite sentávamo-nos na caravana de Louise ou na minha cozinha, a conversar. Ela ocupava-se dos cozinhados. Eu telefonava a encomendar o conteúdo da sua lista de compras e Jansson entregava os produtos. Na semana anterior ao solstício, tornou-se evidente que Harriet não duraria muito. Sempre que acordava, perguntava como estava o tempo e compreendi que estava a pensar na sua festa. Da vez seguinte que Jansson veio, num dia em que chovera continuamente, com ventos a soprar do Artico, convidei-o para uma festa na sexta-feira seguinte.
- É o seu aniversário?
219
- Todos os Natais queixa-se de que não pus luzes decorativas. Todos os solstícios de verão lamenta-se porque não aceito fazer um brinde consigo no pontão. Agora estou a convidá-lo para uma festa. É assim tão difícil de compreender? Às sete, se o tempo permitir.
- Os meus ossos dizem que vem aí tempo quente. Jansson afirma que é capaz de adivinhar a presença de água utilizando uma varinha de vedor e que os seus ossos sentem o tempo.
Não comentei os ossos. Mais tarde telefonei a Hans Lundman e convidei-o também, a ele e à mulher.
- Nesse dia estou a trabalhar, mas devo conseguir trocar os turnos com Edvin. E o teu aniversário?
- E sempre o meu aniversário - repliquei. - Às sete, se o tempo permitir.
Louise e eu tratámos dos preparativos. Desencantei algum mobiliário de jardim dos meus avós, que estava arrumado há anos. Pintei tudo e reparei uma perna de mesa, que tinha apodrecido.
No dia anterior à véspera do solstício choveu a cântaros. Soprava um vento forte, de noroeste, e a temperatura caiu para doze graus. Louise e eu trepámos ao cimo da colina e vimos barcos refugiando-se da tempestade numa baía abrigada, do outro lado de Korshol-men, a ilha mais próxima da minha.
- O tempo também estará assim amanhã? - perguntou ela.
- A acreditar nos ossos de Jansson, vai estar um dia lindo e cheio de sol - retorqui. .
No dia seguinte, o vento amainou. A chuva parou, as nuvens dispersaram e a temperatura subiu. Harriet tinha passado duas noites más, em que os analgésicos não pareciam ter surtido qualquer efeito. Mas depois as coisas deram sinais de melhorar. Preparámo-nos para a festa. Louise sabia exatamente o que a mãe queria.
- Uma extravagância simples - afirmou. - É uma tarefa baldada, claro, tentar misturar simplicidade e extravagância, mas por vezes temos de tentar o impossível.
Foi uma estranha festa de solstício de verão, que creio que nunca será esquecida por nenhum dos presentes, ainda que as recordações de cada um possam diferir um pouco. Hans Lundman
220
telefonou de manhã a perguntar se podiam trazer a neta, que tinha ido visitá-los e não podia ficar sozinha em casa. Chamava-se Andrea e tinha dezasseis anos. Sabia que ela sofria de uma deficiência metal e que tinha dificuldade em compreender algumas coisas ou em aprender. Mas também tinha uma confiança ilimitada em pessoas que nunca vira. Apertava a mão a quem quer que fosse e, em criança, tinha todo o gosto em sentar-se ao colo de perfeitos desconhecidos.
Claro que seria bem-vinda. Pusemos a mesa para sete pessoas, em vez de seis. Harriet, que entretanto estava praticamente acamada, sentou-se numa cadeira, no jardim, às cinco da tarde. Envergava um vestido de verão de cores claras, escolhido por Louise, que também lhe arranjara o cabelo num bonito rolo. Além disso, tinha-a maquilhado. O rosto macilento de Harriet recuperou um pouco da distinção que possuíra numa fase anterior da vida. Sentei-me ao seu lado, com um copo de vinho na mão. Ela tirou-mo e bebeu metade de um trago.
- Traz-me um pouco mais - pediu ela. - Para ter a certeza que não adormecia, reduzi a quantidade de tralha que tomo para controlar as dores. Mas a verdade é que tenho dores e elas vão piorar. Mas agora, o que quero é vinho branco em vez de comprimidos brancos. Vinho!
Fui à cozinha, onde uma fila de garrafas aguardava, já sem rolha e prontas a servir. Louise estava ocupada com qualquer coisa que se preparava para meter no forno.
- Harriet quer vinho - disse-lhe eu.
- Então dá-lho! Esta festa é para ela. É a última vez que terá oportunidade de beber demais. Se ficar bêbeda, é motivo para nos alegrarmos.
Levei a garrafa para o jardim. A mesa estava muito bonita. Louise decorara-a com flores e ramos cobertos de folhas. Tapara os pratos frios, já dispostos na mesa,
com algumas das toalhas velhas da minha avó.
Brindámos um ao outro. Harriet pegou-me na mão.
- Estás zangado por eu querer morrer em tua casa?
- Porque havia de estar?
221
- Não quiseste viver comigo. Talvez também não queiras que morra em tua casa.
- Não me admirava se nos enterrasses a todos.
- Estarei morta dentro de pouco tempo. Sinto a morte a puxar-me. A terra chama por mim. Às vezes, quando acordo a meio da noite, antes que a agonia se torne tão terrível que me faz gritar, tenho tempo para perguntar a mim própria se tenho medo do que me espera. Tenho, sim. Mas tenho medo sem o ter. E mais como uma preocupação vaga, como estar prestes a abrir uma porta sem saber ao certo o que ela esconde. Então a dor atinge-me e é disso que tenho medo. Nada mais.
Louise veio sentar-se ao meu lado, de copo na mão.
- A família - comentou. - Já não sei se quero usar o apelido de Welin ou Hõrnfeldt. Talvez seja Louise Hõrnfeldt-Welin. Profissão: escritora de cartas.
Trouxera uma máquina fotográfica consigo e tirou uma fotografia minha e de Harriet, sentados lado a lado, com os copos na mão. Depois tirou outra, em que ela ficou também.
- A minha máquina é antiquada - declarou. - Tenho de mandar revelar os filmes. Mas agora consegui a fotografia com que sempre sonhei.
Brindámos ao entardecer de verão. Pensei no facto de Harriet ter de usar uma fralda por baixo do seu leve vestido de verão e de a bela Louise ser realmente minha filha.
Louise foi à caravana mudar de roupa. A gata saltou subitamente para cima da mesa. Enxotei-a. Ela mostrou-se ofendida e afastou-se. Ficámos sentados em silêncio, a ouvir o murmúrio abafado do mar.
- Tu e eu - disse Harriet. - Tu e eu. E depois, de repente, acaba-se tudo.
Às sete horas reinava uma calma absoluta e a temperatura era de dezassete graus.
Jansson e os Lundman chegaram juntos. Os barcos formavam uma simpática frota composta por duas embarcações, ambas com bandeiras a esvoaçar à popa. Louise foi esperá-los ao pontão, com um aspeto radiante. O seu vestido era quase provocadoramente
222
curto, mas tinha pernas bonitas e reconheci os sapatos vermelhos I que calçara: eram os que usava quando saíra da caravana e eu a vira pela primeira vez. Jansson enfiara-se num fato velho e um pouco apertado, Romana cintilava, vestida de vermelho e preto, e Hans trajava de branco da cabeça aos pés e completara o conjunto com um boné de timoneiro de iate. Andrea envergava um vestido azul e uma fita de cabelo amarela. Fundeámos os barcos, passámos alguns minutos no pequeno pontão,
a falar acerca do verão que finalmente chegara, depois subimos em direção à casa. Os olhos de Jansson estavam ligeiramente vidrados e tropeçou duas vezes, mas ninguém se importou, muito menos Harriet, que se levantou da cadeira sem ajuda e apertou a mão a toda a gente.
Tínhamos decidido dizer a verdade: Harriet era a mãe de Louise, eu era o pai e, noutros tempos, Harriet e eu tínhamos estado prestes a casar. Agora Harriet estava doente, mas não tanto que não pudéssemos sentar-nos todos juntos à sombra dos carvalhos naquela noite e partilhar um jantar.
Pensando bem, parece-me que, no princípio, a nossa festa lembrava uma pequena orquestra, com cada músico a afinar os
respetivos instrumentos. Falámos, falámos e,
aos poucos, alcançámos o som adequado. Ao mesmo tempo, comíamos, brindávamos, transportávamos pratos para trás e para a frente, e fazíamos ecoar o nosso riso pelos
recifes. Harriet parecia estar de perfeita saúde, enquanto tudo isso acontecia. Conversou com Hans acerca de foguetes de sinalização, com Romana acerca do preço das mercearias, e pediu a Jansson que nos contasse a entrega mais estranha que fizera na sua vida de carteiro. A festa era dela, era ela quem dominava, regia e harmonizava todos os sons em acordes melodiosos. Andrea não disse nada. Pouco depois do início da festa, agarrou-se muito a Louise, que se deixou abraçar. Todos nos embriagámos, bem entendido; Jansson foi o primeiro, mas nunca perdeu o controlo. Ajudou Louise a transportar os pratos e não deixou cair nem um. Quando escureceu, foi ele quem acendeu as velas e as serpentinas de erva-cidreira que Louise comprara para afastar os mosquitos. Andrea lançava olhares inquiridores aos adultos. Harriet, que estava sentada à sua frente, estendia a mão, de tempos a tempos, e tocava-lhe nas
223
pontas dos dedos. Senti-me muito triste ao ver aqueles dedos que se tocavam. Uma delas não tardaria a morrer, a outra nunca compreenderia verdadeiramente o que significava viver. Harriet viu-me a olhar para elas e ergueu o copo. Toquei nele com o meu e bebemos. Depois fiz um discurso. Não tinha sido preparado, pelo menos conscientemente. Falei acerca de simplicidade e extravagância. Acerca da perfeição, que talvez não exista, mas cuja existência pode ser pressentida na companhia de bons amigos numa encantadora noite de verão. O verão sueco era imprevisível e nunca muito longo. Mas podia ser desconcertantemente belo, como acontecia naquela noite.
- Aqui estão os meus amigos - prossegui. - Os meus amigos e a minha família, e tenho procedido como um príncipe muito pouco hospitaleiro nesta minha ilhota, para a qual nunca convidei nenhum de vocês. Agradeço-vos a vossa paciência. Nem quero imaginar o que terão pensado de mim. Espero que esta não seja a única vez em que nos encontramos assim.
Bebemos. Uma suave brisa noturna soprou através das copas dos carvalhos e fez tremeluzir as velas.
Jansson bateu no seu copo e pôs-se em pé. Cambaleava ligeiramente, mas conseguiu manter-se firme. Não disse nada. E depois começou a cantar. Numa assombrosa voz de barítono, cantou a "Ave Maria" de um modo que me deixou todo arrepiado. Creio que todos os convivas sentados à mesa tiveram a mesma reação. Hans e Romana estavam com uma expressão tão atónita como a minha. Ao que parecia, ninguém sabia que Jansson tinha uma voz tão potente. Vieram-me lágrimas aos olhos. Jansson ali estava, com as suas dores e maleitas imaginárias, num fato demasiado pequeno para ele, a cantar de tal forma que dava a impressão de que um deus viera juntar-se a nós para festejar aquela noite de verão. Só o próprio Jansson podia explicar por que motivo guardara segredo acerca da sua voz.
Até as aves se calaram e puseram à escuta. Andrea estava boquiaberta. Foram momentos intensos, mágicos. Quando o canto terminou e Jansson se sentou, ninguém disse palavra. Por fim, Hans rompeu o silêncio e disse a única coisa que era possível dizer:
- Bem, raios me partam!
224
Jansson foi bombardeado com perguntas. Onde tinha aprendido a cantar assim? Porque nunca cantara antes? Mas ele não respondeu. Nem quis cantar mais.
- Fiz o meu discurso de agradecimento - declarou. - Cantei. Só queria que esta noite durasse para sempre.
Continuámos a comer e a beber. Harriet pousara a sua batuta de maestro e as conversas cruzavam-se ao acaso. Estávamos todos embriagados. Louise e Andrea esgueiraram-se
na direção da casa dos barcos e da caravana. Hans meteu na cabeça que ele e Romana deviam dançar. Saltaram e pularam para as traseiras da casa, naquilo que Jansson afirmava ser uma polca, e reapareceram do outro lado dançando algo que se assemelhava mais a um hambo2.
Harriet divertiu-se. Creio que houve momentos, ao longo da noite, em que não teve dores e esqueceu que estava a morrer. Servi mais vinho a toda gente, exceto Andrea.
Jansson afastou-se a cambalear, para urinar atrás dos arbustos, Hans e Romana embrenharam-se numa partida de braço de ferro e eu liguei o rádio: música, uma peça
sonhadora para piano, de Schumann, pensei. Sentei-me ao lado de Harriet.
- As coisas correram pelo melhor - observou ela.
- Que queres dizer?
- Nunca teríamos podido viver juntos. Eu não tardaria a fartar-me da tua mania de escutar às portas e de revistar os meus papéis pessoais. Era como se te tivesse
na pele. Fazias-me comichão. Mas, como estava apaixonada por ti, não dei importância a isso. Pensei que acabaria por passar. E assim foi. Mas só quando te foste
embora.
Ergueu o copo e fitou-me nos olhos.
- Nunca foste boa pessoa - afirmou. - Sempre escapaste às responsabilidades. Nunca serás boa pessoa. Mas talvez venhas a ser um pouco melhor do que és. Não percas
Louise. Cuida dela e ela cuidará de ti.
- Devias ter-me dito - repliquei. - Há anos que tenho uma filha sem o saber.
2 Dança tradicional sueca. (N. da T.)
225
- Claro que devia ter-te dito. Podia ter-te encontrado, se me tivesse esforçado. Mas estava muito zangada. Foi a minha maneira de me vingar. Guardar a tua filha só para mim. Agora estou a ser castigada por isso.
- Como?
- Sinto remorsos.
Jansson aproximou-se de novo, sempre a cambalear, e sentou-se do outro lado de Harriet, completamente alheado do facto de estarmos profundamente embrenhados na conversa.
- Acho que é uma mulher extraordinária, que não hesitou em meter-se no meu hidrocóptero e, depois, em aventurar-se no gelo.
- Foi uma experiência - disse Harriet. - Mas não gostaria de repetir essa viagem até à ilha.
Levantei-me e subi a colina. Fui atingido por ruídos provenientes do outro lado da casa, na forma de louça a tilintar e gritos esporádicos. Julguei ver a minha avó sentada no banco, junto à macieira, e o meu avô a subir a vereda, vindo da casa dos barcos.
Era uma noite em que vivos e mortos podiam partilhar uma festa. Era uma noite para aqueles que ainda tinham muito tempo para viver e para aqueles que, como Harriet, já estavam perto da fronteira invisível, à espera do barco que os levaria para a outra margem do rio, para a última travessia.
Desci ao pontão. A porta da caravana estava aberta. Aproximei-me e espreitei sub-repticiamente pela janela. Andrea estava a experimentar as roupas de Louise. Vacilava sobre uns sapatos de salto alto azul-claros e envergava um estranho vestido coberto de lantejoulas cintilantes.
Sentei-me no banco e lembrei-me subitamente daquela noite no solstício de inverno. Estava sentado na cozinha, a pensar que nunca nada mudaria na minha vida. Tinham passado seis meses e tudo mudara. Agora, o solstício de verão começara a projetar-nos de novo em direção às trevas. Ouvia vozes na minha ilha, geralmente tão silenciosa. O riso estridente de Romana, depois a voz de Harriet, que se erguia acima da morte e da dor e berrava por mais vinho.
226
Mais vinho! Parecia um grito de caça. Harriet mobilizara as suas últimas forças para travar a batalha final. Voltei para casa e abri as garrafas que nos restavam. Quando saí, Jansson apertava Romana nos braços, numa dança oscilante e apenas semiconsciente. Hans fora para junto de Harriet. Pegara-lhe na mão, ou talvez tivesse sido ao contrário, e ela ouvia enquanto ele tentava explicar, laboriosamente e sem êxito, como os faróis erigidos nos canais de navegação tornavam mais fácil aos navios passar por eles, mesmo a alta velocidade. Louise e Andrea emergiram das sombras. Ninguém a não ser Harriet notou como Andrea estava bonita nas imaginativas
criações de Louise. A rapariga ainda trazia os sapatos azul-claros. Louise viu-me a olhar para os pés dela.
- Giaconelli fê-los para mim - sussurrou-me. - Agora vou dá-los àquela rapariga, que tem tanto amor dentro de si, amor que nunca ninguém terá a coragem de aceitar.
Um anjo usará sapatos azul-claros, criados por um mestre.
A longa noite passou vagarosa, numa espécie de sonho, e já não me lembro com clareza do que aconteceu ou do que foi dito. Mas a certa altura em que me afastei para urinar, Jansson estava sentado nos degraus da frente, a soluçar nos braços de Romana. Hans dançava uma valsa com Andrea, Harriet e Louise sussurravam confidencialmente entre si e o sol elevava-se discretamente
do mar.
O grupo que desceu a vereda até ao pontão, às quatro da manhã, estava tudo menos firme nas pernas. Harriet apoiava-se ao seu andarilho, ajudada por Hans. Parámos no pontão, despedimo-nos, soltámos as amarras e ficámos a ver os barcos partir.
Imediatamente antes de entrar no barco com os sapatos azul-claros na mão, Andrea veio ter comigo e apertou-me nos seus braços magros, cobertos de picadas de mosquito.
Muito depois de os barcos terem desaparecido atrás do promontório, ainda sentia aquele abraço, como se fosse uma película quente em redor do meu corpo.
- Vou voltar para casa com Harriet - disse Louise. - Está a precisar de uma boa lavagem. Será mais fácil se estivermos sozinhas. Se te sentires cansado, podes estender-te na caravana.
227
- Vou começar a levantar os pratos e o resto das coisas.
- Podemos tratar disso amanhã.
Fiquei a vê-la ajudar a mãe a subir a vereda. Harriet estava exausta. Mal se aguentava em pé, embora se apoiasse ao andarilho e à filha.
A minha família, pensei. A família que só tive quando já era demasiado tarde.
Adormeci no banco e só acordei quando Louise me sacudiu o ombro.
- Ela já está a dormir. Devíamos fazer o mesmo.
O sol já ia alto no horizonte. Doía-me a cabeça e tinha a boca seca.
- Achas que ela gostou? - perguntei.
- Espero que sim.
- Ela não disse nada?
- Estava quase inconsciente quando a meti na cama. Subimos juntos para casa. A gata, que tinha estado desaparecida
quase toda a noite, estava deitada no sofá da cozinha. Louise pegou-me na mão.
- Não sei quem tu és - disse ela. - Um dia talvez compreenda. Mas foi uma boa festa. E gosto dos teus amigos.
Desenrolou o colchão no chão da cozinha. Subi para o meu quarto e estendi-me na cama, sem me despir. Tirei apenas os sapatos.
Nos meus sonhos, ouvi gritos e guinchos de gaivotas e andorinhas-do-mar. Estavam cada vez mais perto e, de repente, mergulharam sobre o meu rosto.
Quando acordei, compreendi que os ruídos vinham do andar de baixo. Era Harriet, a gritar outra vez de dor.
A festa tinha acabado.
228
CAPÍTULO 5
Uma semana depois, a gata desapareceu. Louise e eu revistámos cada canto e fenda das rochas, mas não encontrámos nada. Como de costume, pensei no meu cão. Teria encontrado a gata imediatamente. Mas o cão estava morto e compreendi que provavelmente o mesmo acontecera com a gata. Vivia numa ilha de animais mortos, com uma pessoa moribunda que se debatia com os seus penosos últimos dias na companhia de um formigueiro cada vez maior, que ameaçava engolir aos poucos a sala inteira.
A gata nunca mais foi vista. O calor do verão formava uma manta opressiva sobre a minha ilha. Servi-me do motor fora de borda para ir a terra de barco comprar uma ventoinha elétrica para o quarto de Harriet. As janelas ficavam abertas toda a noite. Os mosquitos dançavam nos velhos mosquiteiros que o meu avô fizera há muito. Até havia uma data, escrita com um lápis de carpinteiro, numa das molduras: 1936. Comecei a pensar que, apesar do começo pouco prometedor, aquela vaga de calor de julho transformaria aquele verão no mais quente que conhecera naquelas ilhas.
Louise ia nadar todas as noites. A situação chegara a um ponto em que nunca nos afastávamos muito do quarto de Harriet. Era preciso que um de nós estivesse sempre disponível. As dores agonizantes eram cada vez mais frequentes. De três em três dias, Louise telefonava para o serviço de cuidados de saúde domiciliários para se aconselhar. Na segunda semana de julho, quiseram mandar um médico para examinar Harriet. Eu estava no alpendre, a mudar uma lâmpada, quando Louise falou com eles. Para
229
minha grande surpresa, ouvi-a dizer que não seria necessária qualquer consulta domiciliária, pois o seu pai era médico.
Deslocava-me frequentemente à costa para ir à farmácia buscar novas doses de medicamentos para Harriet. Um dia, Louise pediu-me que comprasse alguns postais ilustrados. Não importava de quê. Comprei toda a reserva de postais de uma loja, bem como a quantidade equivalente de selos. Quando Harriet adormecia, Louise sentava-se e escrevia a todos os seus amigos da floresta. De tempos a tempos, também trabalhava numa carta que concluí ser muito longa. Não me disse a quem era dirigida. Nunca deixava os seus papéis na mesa da cozinha, levava-os sempre consigo para a caravana.
Avisei-a de que Jansson iria certamente ler todos e cada um dos postais que ela lhe entregasse.
- Porque havia ele de fazer isso?
- É curioso.
- Creio que respeitará os meus postais.
Não falámos mais do assunto. Sempre que Jansson fundeava o seu barco ao lado do pontão, ela entregava-lhe um maço de postais novos. Ele metia-os no saco sem sequer olhar para eles.
Também já não se queixava de dores e maleitas. Naquele verão, com Harriet a morrer em minha casa, Jansson parecia ter ficado subitamente curado de todos os seus padecimentos imaginários.
Visto Louise estar encarregada de cuidar de Harriet, eu fiquei com a responsabilidade de cozinhar. Claro que Harriet era o elemento verdadeiramente decisivo da casa, mas Louise geria a vida doméstica como se se tratasse de um navio e ela fosse o comandante. Por mim, não tinha nada contra isso.
Os dias quentes eram um tormento para Harriet. Comprei outra ventoinha, mas não ajudou grande coisa. Telefonei várias vezes a Hans Lundman, para perguntar o que o meteorologista da guarda costeira tinha a dizer acerca da previsão do tempo.
- É uma vaga de calor estranha - dizia Hans. - As cristas de altas pressões geralmente deslocam-se, vão passando, ainda que, por vezes, muito devagar. Mas esta é
diferente. Está parada. Quem percebe dessas coisas diz que é semelhante à vaga de calor que atingiu a Suécia no verão incrivelmente quente de 1955.
230
Lembrava-me desse verão. Tinha dezoito anos e passei a maior parte do tempo a navegar no bote do meu avô. Foi um verão irrequieto e a minha pulsação de adolescente
esteve sempre acelerada. Deitava-me muitas vezes nu nas rochas quentes, a sonhar com mulheres. A mais bonita das minhas professoras vagueava muitas vezes pelo meu
mundo de sonhos e, uma após outra, todas se tornaram minhas amantes.
Isso fora há quase cinquenta anos.
- Deve haver alguma previsão acerca de quando começará a ficar mais fresco?
- De momento não há movimento absolutamente nenhum. Estão a surgir incêndios por toda a parte. Há fogos nos sítios mais inesperados.
Tivemos de nos aguentar. Por vezes víamos nuvens escuras acumularem-se para os lados de terra e ouvíamos o estrondo de trovões distantes. De vez em quando ficávamos sem eletricidade, mas o meu avô tinha dedicado muito tempo a criar um inteligente sistema de para-raios, que protegia tanto a casa principal como a casa dos barcos.
Quando as trovoadas chegaram finalmente à ilha, no fim de um dos dias mais quentes, Louise disse-me que estava aterrorizada. A maior parte da nossa reserva de álcool fora consumida na festa do solstício de verão. Restava apenas meia garrafa de brandy. Ela serviu-se de um copo.
- Não estou a fingir, sabes - declarou. - Estou mesmo com medo.
Sentou-se debaixo da mesa da cozinha e gemia de cada vez que um trovão sacudia a casa. Quando a tempestade passou, saiu do seu esconderijo, com o copo vazio e o rosto lívido.
- Não sei porquê - confessou -, mas nada me assusta tanto como o clarão de relâmpagos seguido pelos trovões que arremessam contra mim.
- Caravaggio pintou trovoadas? - perguntei.
- Estou convencida de que tinha tanto medo delas como eu. Pintava muitas coisas de que tinha medo. Mas, tanto quanto sei, nunca pintou trovoadas.
231
A chuva que se seguia às trovoadas refrescava o solo e as pessoas que nele viviam. Quando a tempestade passou, fui ver Harriet. Estava deitada, com a cabeça alta, num esforço para aliviar as dores que lhe atazanavam a espinha. Sentei-me na cadeira ao lado da cama e peguei-lhe na mão magra e fria.
- Ainda está a chover?
- Já acabou. Há inúmeros pequenos regatos a correr furiosamente pelas rochas abaixo até ao mar.
- Há um arco-íris?
- Esta noite, não.
Ela ficou calada por um bocado.
- Não tenho visto a gata - observou.
- Desapareceu. Procurámo-la, mas não a encontrámos.
- Então morreu. Os gatos escondem-se quando pressentem que chegou a sua hora. Os membros de certas tribos fazem o mesmo. Mas a maioria de nós agarra-se à vida o máximo de tempo possível, enquanto os outros se sentam e esperam que morramos de uma vez.
- Não estou à espera disso.
- Claro que estás. Não tens alternativa. E esperar deixa as pessoas impacientes.
Falava em jatos curtos, como se estivesse a subir uma escadaria interminável e fosse obrigada a parar constantemente, para recobrar o fôlego. Estendeu a mão e procurou o copo de água às apalpadelas. Entreguei-lho e amparei-lhe a cabeça enquanto bebia.
- Estou grata por me teres recebido - disse ela. - Podia ter morrido de frio, lá no gelo. Podias ter fingido não me ver.
- O facto de te ter abandonado uma vez não significa necessariamente que vá fazer o mesmo outra vez.
Ela abanou a cabeça, quase impercetivelmente.
- Disseste tantas mentiras, mas ainda não aprendeste a fazê-lo como deve ser. E preciso que a maior parte do que se diz seja verdade. Caso contrário, as mentiras não resultam. Sabes tão bem como eu que eras perfeitamente capaz de me abandonar outra vez. Deixaste mais alguém além de mim?
Pensei no assunto. Queria responder com verdade.
232
- Uma pessoa. Só mais uma pessoa.
- Como se chamava ela?
- Não era uma mulher. Refiro-me a mim próprio. Harriet abanou lentamente a cabeça.
- Não adianta andar à volta do passado. As nossas vidas correram como correram e tudo isso ficou para trás. Dentro em breve estarei morta. Tu viverás mais algum tempo, mas depois também desaparecerás. E todos os vestígios desvanecer-se-ão.
Estendeu a mão e agarrou-me no pulso. Sentia-lhe a pulsação acelerada.
- Quero dizer-te uma coisa que já deves ter depreendido. Nunca amei outro homem tanto como te amei a ti. A razão por que te procurei foi para reencontrar o caminho para esse amor. E para te dar a filha que te tinha roubado. Mas, acima de tudo, queria morrer perto do homem a quem sempre amei. Também devo dizer que nunca odiei ninguém tanto como a ti. Mas o ódio dói e já tive dor mais do que suficiente. O amor dá um sentimento de frescura, de paz, talvez até de segurança, que torna a necessidade de enfrentar a morte um pouco menos assustadora do que seria doutro modo. Não respondas a nada do que acabei de te dizer. Limita-te a acreditar em mim. E pede à Louise que venha cá. Acho que me molhei.
Fui buscar Louise, que estava sentada nos degraus da frente.
- Isto é lindo - disse ela. - Quase tanto como as profundezas da floresta.
- Tenho um medo pavoroso de grandes florestas - confessei. - Sempre tive medo de me perder se me desviasse demasiado do caminho.
- Aquilo de que tens medo é de ti próprio. Nada mais. O mesmo se aplica a mim. E a Harriet. E à encantadora pequena Andrea. E a Caravaggio. Temos medo de nós próprios e do que vemos de nós nos outros.
Foi mudar a fralda de Harriet. Sentei-me no banco, debaixo da macieira, ao lado da sepultura do cão. Muito ao longe, ouvia o bater abafado dos motores de um grande navio. A marinha já teria dado início às suas habituais manobras de outono?
233
Harriet tinha dito que nunca amara ninguém tanto como a mim. Sentia-me comovido. Não esperava aquilo. Só agora começava a avaliar o que fizera.
Abandonara-a porque tinha medo de ser abandonado. O meu medo de me prender, e de sentimentos tão fortes que não conseguia controlá-los, tivera sempre por resultado eu recuar. Não sabia por que motivo isso acontecia. Mas sabia que não era o único. Vivia num mundo onde muitos outros homens tinham tanto medo como eu.
Tinha tentado rever-me no meu pai. Mas o seu medo era diferente. Nunca hesitara em manifestar o amor que sentia pela minha mãe e por mim, apesar do facto de não ser fácil viver com a minha mãe.
Tenho de enfrentar isto, disse para comigo. Antes de morrer, tenho de saber porque vivi. Ainda me resta algum tempo; tenho de o aproveitar bem.
Sentia-me muito cansado. A porta do quarto de Harriet estava entreaberta. Subi as escadas. Meti-me na cama, mas deixei a luz acesa. A parede por trás da cama sempre estivera decorada com cartas marítimas, que o meu avô encontrara na praia, arrastadas pelo mar. A água estragara-as, mas ainda era possível distinguir que assinalavam Scapa Flow nas Ilhas Orcades, onde a frota britânica estava baseada durante a Primeira Guerra Mundial. Seguira muitas vezes os estreitos canais que circundam Pentland Firth e imaginado os navios britânicos ali parados, temendo os periscópios dos submarinos alemães.
Adormeci com a luz ainda acesa. Às duas da manhã fui acordado pelos gritos de Harriet. Tapei os ouvidos com os dedos e esperei que os analgésicos surtissem efeito.
Em minha casa vivia-se num silêncio que podia ser estilhaçado a qualquer momento por um rugido de dor intensa. Dei por mim a pensar cada vez com mais frequência que esperava que Harriet morresse brevemente. A bem de todos nós.
A vaga de calor durou até ao dia 24 de julho. Anotei no meu diário que se levantara um vento de nordeste e a temperatura começara a baixar. Centros de baixas pressões, sucedendo-se sobre
234
o Mar do Norte, trouxeram um tempo instável. Nas primeiras horas do dia 27 de julho, um vento forte de norte varreu o arquipélago. Algumas telhas junto à chaminé
foram arrancadas do telhado e estilhaçaram-se no chão. Consegui trepar lá acima e substituí-las com algumas telhas avulsas guardadas num barracão desde a demolição
do celeiro, nos finais dos anos sessenta.
O estado de Harriet agravou-se. Agora que o tempo começara a deteriorar-se, só acordava por breves períodos ao longo do dia. Louise e eu partilhávamos as tarefas domésticas, mas era Louise quem lavava a mãe e lhe mudava as fraldas, pelo que lhe estava muito grato.
O outono ia-se insinuando. As noites eram mais longas, o sol perdia a força. Louise e eu preparámo-nos para o facto de Harriet poder morrer a qualquer momento. Quando estava consciente, sentávamo-nos ambos ao pé dela. Louise queria que ela nos visse juntos. Harriet falava pouco. Perguntava as horas e se faltava muito para comer. Estava cada vez mais confusa. Por vezes julgava que estava na caravana, na floresta, outras convencia-se de que se encontrava no seu apartamento, em Estocolmo. Não tinha consciência de estar na ilha, num quarto com um formigueiro. Nem parecia ter consciência de estar a morrer. Quando acordava, parecia que tudo aquilo era a coisa mais natural do mundo. Bebia um pouco de água, talvez engolisse algumas colheres de sopa, depois adormecia de novo. A pele do seu rosto estava tão esticada sobre o crânio que cheguei a recear que rasgasse e expusesse os ossos. A morte é feia, pensei. Agora já não restava quase nada da bela Harriet. Era um esqueleto cor de cera debaixo de um cobertor, nada mais.
Uma noite, no princípio de agosto, sentámo-nos no banco por baixo da macieira. Vestíramos casacos quentes e Louise tinha um dos meus gorros de lã na cabeça.
- Que vamos fazer quando ela morrer? - perguntei. - Deves ter pensado nisso. Sabes se ela tem algum desejo específico?
- Quer ser cremada. Mandou-me uma brochura de uma agência funerária, há uns meses. Talvez ainda a tenha, talvez a tenha deitado fora. Ela tinha assinalado o caixão mais barato e uma urna em promoção.
235
- Tem direitos sobre alguma sepultura?
Louise franziu a testa:
- Que quer isso dizer?
- Há algum jazigo de família? Onde estão enterrados os pais dela? Geralmente há uma ligação a uma determinada cidade ou aldeia. Nos velhos tempos, falava-se de direito sobre a sepultura.
- Os parentes dela estão espalhados por todo o país. Nunca a ouvi falar de visitar a sepultura dos pais. Nunca exprimiu qualquer desejo específico relativamente à sua própria sepultura. Embora tenha dito com bastante firmeza que não quer nenhuma lápide. Acho que preferia que as suas cinzas fossem espalhadas ao vento. Hoje em dia pode-se fazer isso.
- E precisa uma autorização - repliquei. - Jansson contou-me de velhos pescadores que queriam que as suas cinzas fossem espalhadas sobre as antigas zonas de pesca ao arenque.
Ficámos sentados em silêncio, a pensar no que fazer. Tinha comprado um talhão num cemitério: provavelmente não havia nenhuma razão para que Harriet não ficasse ao meu lado.
Louise pousou-me a mão no braço.
- Na realidade, não precisamos de pedir autorização - observou. - Harriet podia ser uma daquelas pessoas deste país que não existem.
- Toda a gente tem um número de identificação pessoal - repliquei. - Não podemos desaparecer quando nos apetece.
- Há sempre maneiras de se contornar as coisas - disse Louise. - Ela morrerá aqui, em tua casa. Queimá-la-emos da mesma maneira que eles cremam os mortos na índia. Depois espalharemos as suas cinzas sobre a água. Eu encarrego-me de rescindir o contrato do apartamento de Estocolmo e trato de o esvaziar. Não deixarei endereço para reencaminhamento do correio. Ela deixará de levantar a sua pensão. Direi à gente dos cuidados de saúde domiciliários que ela morreu.
É a única coisa que lhes
interessa. Calculo que alguém possa desconfiar, mas direi que não tenho qualquer contacto com a minha mãe há vários meses. E que ela foi embora daqui após uma breve
visita.
- Foi?
236
- Quem julgas que irá perguntar a Jansson ou a Hans Lund-man para onde ela foi?
- Mas é justamente essa questão. Para onde foi ela? Quem a levou para terra?
- Tu. Há uma semana. Ninguém sabe que ela ainda cá está. Comecei a perceber que Louise estava a falar a sério. Trataríamos
nós próprios do funeral. Nada mais foi dito. Dormi muito pouco nessa
noite. Mas, aos poucos, comecei a pensar que talvez fosse possível.
Dois dias depois, ao jantar, Louise pousou subitamente a colher.
- O fogo - disse ela. - Já sei como podemos acendê-lo sem que ninguém tenha razões para perguntar o que se passa.
Ouvi a sua proposta. Primeiro pareceu-me repulsiva, mas depois comecei a ver que era uma ideia linda.
A lua desapareceu. A escuridão envolveu o arquipélago. Os últimos veleiros de verão regressaram aos seus portos de origem. A marinha executou manobras no arquipélago do sul. De vez em quando ouvíamos o estrondo de tiros distantes. Agora Harriet dormia mais ou menos vinte e quatro horas por dia. Fazíamos turnos ao pé dela. Nos meus tempos de estudante de medicina, tinha ganho algum dinheiro extra fazendo o turno da noite. Ainda me lembro da primeira vez que vi uma pessoa morrer. Aconteceu sem qualquer movimento, em total silêncio. O grande salto era muito pequeno. Numa fração de segundo, o vivo juntava-se aos mortos.
Lembro-me de pensar: esta pessoa, que agora está morta, nunca existiu de facto. A morte aniquila tudo o que viveu. A morte não deixa rasto, tirando as coisas que sempre tive dificuldade em encarar. Amor, emoções. Fugi de Harriet porque ela se tornara demasiado próxima de mim. E agora ela não tardaria a desaparecer.
Louise mostrava-se frequentemente perturbada, nesses últimos dias. Eu sentia um medo crescente de estar a aproximar-me do meu próprio fim. Receava a humilhação que me esperava e desejava que me fosse concedida uma morte suave, que me poupasse à necessidade de ficar acamado durante muito tempo antes de chegar à última margem.
Harriet morreu de madrugada, pouco depois das seis da manhã do dia 22 de agosto. Tinha passado uma noite agitada. Os analgé-
237
sicos não pareciam resultar. Eu estava na cozinha, a fazer café, quando Louise entrou. Parou ao pé de mim e esperou que eu contasse até dezassete.
- A mãe morreu.
Fomos ao quarto que Harriet ocupava. Tomei-lhe o pulso e servi-me do estetoscópio para procurar algum sinal de atividade cardíaca. Estava de facto morta. Sentámo-nos na cama. Louise chorava baixinho, quase silenciosamente. Quanto a mim, só sentia um alívio preocupantemente egoísta, por não ser eu quem ali jazia morto.
Ficámos sentados, sem falar, durante cerca de dez minutos. Aus-cultei-a de novo, em busca de atividade cardíaca. Nada. Então cobri o rosto de Harriet com uma das toalhas bordadas da minha avó.
Bebemos o café, que ainda estava quente. Às sete horas telefonei para a guarda costeira. Foi Hans Lundman quem atendeu.
- Como está a tua filha?
- Está boa.
- E Harriet?
- Foi-se embora.
- Andrea anda por aí a equilibrar-se naqueles lindos sapatos azul-claros. Transmite isso à Louise.
- Assim farei. Estou a telefonar para avisar que tenciono fazer uma queimada hoje, para me livrar de um montão de lixo. Só para saberem, caso alguém contacte para participar um incêndio na ilha.
- A seca deste ano já acabou.
- Mas alguém pode julgar que tenho a casa a arder.
- Obrigado por nos comunicares.
Desci à casa dos barcos e fui buscar a lona que preparara para servir de mortalha. Não corria uma brisa. O céu estava pesado. Tinha embebido a lona em alcatrão. Estendi-a no chão. Louise vestira Harriet com o bonito vestido que usara na festa do solstício de verão. Penteara-a e maquilhara-lhe o rosto. Continuava a chorar, tão baixinho como antes. Abraçámo-nos e deixámo-nos ficar abraçados.
- Vou ter saudades dela - disse Louise. - Estive muito zangada com ela, durante muitos anos. Mas agora vejo que ela abriu um buraco dentro de mim. Vai ficar aberto, a projetar tristeza sobre mim, pelo resto da minha vida.
238
Auscultei o coração de Harriet uma última vez. A sua pele já começara a adquirir o tom amarelo que se segue à morte.
Esperámos mais uma hora. Depois levámo-la lá para fora e envolvemo-la na lona. Já tinha preparado a pira que transformaria o seu corpo em cinzas e posto uma lata de gasolina ao lado.
Colocámo-la no meu velho barco e içámo-la para cima da pira. Encharquei o corpo e o casco muito gasto em gasolina.
- E melhor afastarmo-nos - sugeri. - A gasolina vai produzir uma enorme labareda. Se estivermos demasiado perto, podemos pegar fogo.
Recuámos. Olhei para Louise. Já não chorava. Fez-me um sinal afirmativo. Cheguei lume a uma bola de desperdícios de algodão embebida em alcatrão, depois atirei-a para dentro do barco.
As labaredas irromperam com um rugido. A íona embebida em alcatrão silvava e crepitava. Louise pegou-me na mão. Portanto, o meu velho barco sempre se tornara útil. Era o transporte no qual enviava Harriet para um outro mundo em que nem ela nem eu acreditávamos, mas que, lá bem no fundo, esperávamos indubitavelmente que existisse.
Enquanto a pira ardia, fui buscar uma velha serra de metal à casa dos barcos. Comecei a serrar o andarilho de Harriet. Depressa se tornou evidente que a serra não estava à altura da tarefa. Pousei o andarilho no bote, juntamente com um par de chumbos para redes de pesca ao arenque e umas quantas correntes. Remei em direção a Norrudden e atirei o andarilho, com os chumbos e as correntes, pela borda fora. Já ninguém pescava nem ancorava ali. Portanto nada se engancharia nele ou o içaria para a superfície.
O fumo da pira erguia-se em colunas no céu. Remei para a ilha e lembrei-me que Jansson devia estar quase a chegar. Louise estava acocorada no chão, a ver arder o barco.
- Gostava de saber tocar um instrumento - disse ela. - Queres que te diga que tipo de música a mãe ouvia?
- A música preferida dela não era jazz tradicional? Costumávamos ir a concertos de jazz na Cidade Velha de Estocolmo, quando andávamos juntos.
239
- Estás enganado. A música preferida dela era Sail Along Silvery Moon. Uma canção sentimental dos anos cinquenta. Passava a vida a ouvi-la. Quem me dera poder tocar-lha agora. Como uma espécie de hino recessional.
- Não faço ideia como é.
Louise trauteou a canção, num tom hesitante. Talvez já a tivesse ouvido, mas nunca tocada por uma banda de jazz.
- Darei uma palavra a Jansson - declarei. - Harriet deixou a ilha ontem. Levei-a a terra no bote. Um parente qualquer veio buscá-la. Ia levá-la para o hospital, em Estocolmo.
- Diz-lhe que ela mandou cumprimentos - lembrou Louise. - Se o fizeres, ele não perguntará porque é que ela foi embora.
Jansson foi pontual, como sempre. Vinha acompanhado por um supervisor que tinha assuntos oficiais a tratar em Bredholmen. Cumprimentámo-nos com um aceno de cabeça. Jansson saltou para o pontão e olhou na direção da fogueira.
- Telefonei a Lundman - contou. -Julguei que a sua casa estava a arder.
- Resolvi queimar o meu barco velho - respondi. - Não consegui pô-lo novamente em condições de navegar. Não adiantava tê-lo aí outro inverno.
- Fez bem - declarou Jansson. - Os barcos velhos recusam-se a morrer, a não ser que sejam cortados para lenha ou queimados.
- Harriet foi-se embora - declarei. - Levei-a a terra ontem. Mandou-lhe cumprimentos.
- Isso foi amável da parte dela - replicou Jansson. - Dê-lhe cumprimentos meus. Gostei muito dela. Uma senhora impecável. Espero que se sentisse um pouco melhor?
- Teve de ir para o hospital. Não creio que estivesse melhor. Mas mandou cumprimentos, de qualquer maneira.
Jansson ficou satisfeito por ouvir dizer que Harriet se lembrara dele. Seguiu o seu caminho, com o supervisor. Caíram alguns pingos de chuva, mas o céu depressa clareou de novo. Voltei para junto da pira. A popa do barco cedera. Já não era possível distinguir entre a madeira carbonizada e a lona com o respetivo conteúdo. Não havia qualquer cheiro a carne queimada. Louise sentara-se numa pedra. De súbito,
240
lembrei-me de Sima e perguntei-me se a minha ilha atrairia de algum modo a morte. Fora aqui que Sima se retalhara, aqui que Harriet viera para morrer. O meu cão estava morto e a gata tinha desaparecido.
Sentia-me abatido. Haveria em mim algo de que pudesse orgulhar-me? Não era má pessoa. Não era violento, não cometera crimes. Mas desiludira os outros. A minha mãe passara dezanove anos sozinha num lar, depois da morte do meu pai, e eu só a visitara uma vez. Tinha passado tanto tempo, antes que me dispusesse finalmente a ir lá, que ela já não sabia quem eu era. Julgou que era o seu irmão, que morrera havia mais de cinquenta anos. Não fiz qualquer esforço para a convencer de que era eu. Deixei-me ficar sentado e entrei no jogo. Sim, claro, sou o seu irmão, morto há tanto tempo. Depois abandonei-a. Nunca mais lá voltei. Nem sequer estive presente no seu funeral. Deixei tudo nas mãos da agência funerária e, no fim, paguei a conta. Tirando o vigário e o organista, a única outra pessoa presente na capela era um representante da agência funerária.
Não fui porque ninguém podia obrigar-me a fazê-lo. Agora compreendia que tinha desprezado a minha mãe. De um modo ou de outro, também desprezara Harriet.
Talvez não sentisse senão desprezo por toda a gente. Acima de tudo, no entanto, desprezava-me a mim próprio. Continuava a ser uma criaturinha pequena e assustada, que vira no pai o inferno brutal que o envelhecimento pode significar.
O dia passou, tão devagar como as nuvens que pairavam à deriva no céu. Quando as chamas começaram a morrer, juntei-lhes mais ramos previamente embebidos em gasolina. Leva tempo, cremar um ser humano ao ar livre.
A noite caiu e o lume continuava a arder. Fui acrescentando lenha, remexi nas cinzas. Louise foi buscar uma travessa de comida. Bebemos o que restava de brandy e depressa ficámos bêbedos. Chorámos e rimos com tristeza, mas também com alívio por a dor de Harriet ter chegado ao fim. Louise estava mais próxima de mim. Sentámo-nos na erva, apoiados um ao outro, vendo o fumo da pira funerária elevar-se na escuridão.
- Vou ficar nesta ilha para sempre - disse Louise.
- Bem, pelo menos fica até amanhã - respondi.
241
Só deixei o fogo extinguir-se quando o dia rompeu.
Louise enrolara-se numa bola sobre a erva e adormecera. Agasalhei-a com o meu casaco. Ela acordou quando comecei a despejar baldes de água do mar por cima das brasas. Já não restava nada de Harriet, nem do velho barco. Louise escrutinou as cinzas que eu retirava da pira.
- Nada - disse ela. - Ainda não há muito tempo era um ser humano vivo. Agora não resta nada dela.
- Pensei que podíamos levar o barco a remos e espalhar as cinzas no mar.
- Não - retorquiu Louise. - Não sou capaz de fazer isso. Quero que pelo menos as cinzas dela sejam preservadas.
- Não tenho urna para as pôr.
- Um frasco, uma lata, qualquer coisa. Quero que as cinzas dela fiquem aqui. Podemos enterrá-las ao pé do cão.
Louise encaminhou-se para a casa dos barcos. Sentia-me pouco à vontade com a ideia de criar um cemitério por baixo da macieira. Ouvi um ruído de chocalhar, vindo da casa do barcos. Louise reapareceu, transportando uma lata que outrora contivera lubrificante para o motor do velho barco do meu avô. Tinha-a lavado e utilizado para guardar pregos e parafusos. Agora estava vazia. Louise soprou o pó, pousou a lata ao lado da pilha de cinzas e começou a enchê-la com as mãos. Fui buscar uma pá à casa dos barcos. Em seguida abri uma cova ao lado do cão. Pusemos a lata no fundo da cova e tapámo-la de novo. Louise afastou-se para o meio das rochas e, passado um bocado, regressou com uma pedra grande, na qual os sedimentos tinham criado algo que se assemelhava a uma cruz. Colocou-a em cima da cova.
Fora um dia duro. Estávamos ambos cansados. Jantámos em silêncio. Louise retirou-se para a sua caravana, para passar a noite. Rebusquei o armário da casa de banho e encontrei um comprimido para dormir. Adormeci quase imediatamente e dormi nove horas seguidas. Não me lembrava da última vez que isso acontecera.
Quando desci, na manhã seguinte, encontrei Louise sentada à mesa da cozinha.
242
- Vou-me embora - anunciou. - Hoje. O mar está calmo. Podes levar-me ao porto?
Sentei-me à mesa. Não estava de todo preparado para aquela sua intenção de partir tão cedo.
- Para onde vais?
- Tenho vários assuntos para tratar.
- Mas certamente que o apartamento de Harriet pode esperar uns dias?
- Não é para lá que vou. Lembras-te da gruta com as pinturas rupestres que foram atacadas pelo bolor?
- Pensava que ias bombardear os políticos com cartas a esse respeito?
Ela abanou a cabeça.
- As cartas não adiantam nada. Tenho de tomar outro tipo de ação.
- Qual?
- Ainda não sei. Depois irei ver alguns quadros de Caravaggio. Agora tenho dinheiro. Harriet deixou-me quase duzentas mil coroas. De vez em quando dava-me algum dinheiro. E eu sempre fui parcimoniosa. Sem dúvida que te interrogaste acerca do dinheiro que encontraste quando andaste a bisbilhotar na minha caravana. Parcimónia, nada mais. Não passei a vida inteira a escrever cartas. Ocasionalmente tive empregos pagos, como toda a gente. E nunca gastei dinheiro à toa.
- Quanto tempo estarás fora? Se não tencionas regressar, gostava que levasses a tua caravana. Esta ilha não é lugar para ela.
- Porque te zangas tanto?
- Entristece-me que te raspes assim e não acredito que voltes.
- Não sou como tu. Voltarei. Se não permitires que a minha caravana cá fique, sugiro que a queimes também. Vou fazer as malas. Estarei pronta para partir daqui a uma hora. Levas-me ou não?
Reinava uma calma absoluta e o mar parecia um lago quando a levei para terra. O motor fora de borda engasgou-se mal largámos do pontão, mas depois recuperou e portou-se normalmente até ao fim do trajeto. Louise estava sentada à proa, sorridente. Eu lamentei a minha explosão.
243
Estava um táxi à espera no porto. Ela só levava uma mochila.
- Telefonar-te-ei - disse ela. - E enviarei postais.
- Como posso entrar em contacto contigo?
- Tens o número do meu telemóvel. Não posso prometer que esteja sempre ligado, no entanto. Mas prometo enviar um postal a Andrea.
- Envia também um a Jansson. Ele ficará encantado. Ela acocorou-se para ficar mais perto de mim.
- Mantém a minha caravana limpa e arrumada até eu voltar. Limpa-a regularmente. E escova os meus sapatos vermelhos. Deixei-os ficar.
Acariciou-me a testa. Depois meteu-se no táxi, que arrancou pela colina acima. Levei a minha lata de gasolina à loja, para a atestar. O porto estava quase deserto. Todos os barcos de verão tinham partido.
Quando cheguei a casa, dei uma volta pela ilha, procurando mais uma vez a gata. Mas não a encontrei. Estava mais só do que nunca.
Passaram várias semanas. Tudo voltou ao que era antes. Jansson chegava no seu barco, trazendo de tempos a tempos uma carta de Agnes, mas nem uma palavra de Louise. Telefonei-lhe várias vezes, mas nunca obtive resposta. As mensagens que lhe deixava tornaram-se semelhantes às anotações do diário, breves e despejadas de um só fôlego, acerca do tempo, do vento e da gata, que continuava desaparecida.
Era de presumir que tivesse sido apanhada por uma raposa, que se teria afastado da ilha a nado.
Sentia-me cada vez mais inquieto Tinha a sensação de que não aguentaria muito mais. Teria de partir. Mas não sabia para onde.
Outubro chegou com uma tempestade de nordeste. Continuava sem notícias de Louise. Agnes também deixara de escrever. Passava a maior parte do tempo sentado à mesa da cozinha, a olhar pela janela. A paisagem parecia ter-se petrificado. Era como se toda a minha casa estivesse a ser lentamente engolida por um formigueiro gigantesco, silencioso e cada vez mais alto.
O outono tornou-se mais agreste. Esperei.
244
SOLSTÍCIO DE INVERNO
CAPÍTULO 1
A primeira geada chegou às primeiras horas do dia três de outubro.
Consultei os meus velhos diários e concluí que nunca tinha havido temperaturas negativas tão precoces nos doze anos em que vivia na ilha. Continuava à espera de notícias de Louise. Não tinha recebido sequer um postal dela.
Nessa noite, o telefone tocou. Uma mulher perguntou se estava a falar com Fredrik Welin. Pareceu-me reconhecer tanto o seu dialeto como a sua voz, mas quando ela se apresentou como Anna Ledin, o nome não me disse nada.
- Sou agente da polícia - disse ela. - Já nos conhecemos. Então fez-se luz. A mulher caída, morta, no chão da sua cozinha.
Anna Ledin era a jovem agente da polícia, que tinha o cabelo preso num rabo de cavalo sob o boné do uniforme.
- Estou a ligar-lhe por causa da cadela - explicou. - A spa-niel de Sara Larsson. Não arranjámos ninguém que a adotasse. E uma cadela amorosa. Mas infelizmente conheci um homem que é alérgico a cães e não quero mandá-la abater. Então lembrei-me de si. Tinha tomado nota do seu nome e morada, de maneira que resolvi telefonar-lhe para saber se está disposto a considerar a possibilidade de ficar com a cadela. Deve gostar de animais, senão não teria parado quando a viu à beira da estrada.
Não tive qualquer dúvida em responder:
- O meu cão morreu há poucos meses. Posso ficar com a spa-niel. Como a fará chegar aqui?
247
- Posso levá-la no meu carro. Descobri que Sara Larsson lhe chamava Rubi. Não é propriamente um nome habitual para um cão, mas continuei a utilizá-lo. Tem cinco anos.
- Quando viria?
- No fim da próxima semana.
Não me atrevia a tentar trazer o cão do porto no meu bote, pois era demasiado pequeno. Combinei ir com Jansson. Este crivou-me de perguntas acerca de que tipo de cão era, mas apenas lhe disse que o tinha herdado.
Anna Ledin chegou ao porto, com a cadela, às três da tarde do dia 12 de outubro. Tinha um aspeto bastante diferente sem o uniforme.
- Vivo numa ilha - contei-lhe. - Ela será a única rainha. Anna entregou-me a trela. Rubi sentou-se ao meu lado.
- Se não se importa, vou andando - disse ela. - Caso contrário vou-me abaixo. Posso telefonar de vez em quando, para saber como ela está?
- Claro que pode.
Anna meteu-se no carro e partiu. Rubi não começou a puxar a trela, nem fez qualquer esforço para correr atrás do carro. Também não hesitou em saltar para o barco
de Jansson.
Voltámos para casa, sobre as águas negras da baía. Sopravam ventos frios vindos do Golfo da Finlândia.
Quando desembarcámos, esperei que Jansson partisse e soltei a cadela. Ela desapareceu no meio das rochas. Regressou ao fim de meia hora. A solidão já me parecia menos opressiva.
O outono instalara-se definitivamente.
Continuava sem saber o que estava a acontecer-me. E por que motivo não tinha notícias de Louise.
248
CAPÍTULO 2
Não gostava do nome da cadela.
Ao que parecia, ela também não o achava grande coisa, pois raramente respondia quando a chamava.
Não é possível um cão chamar-se Rubi. Porque lhe teria Sara Larsson dado aquele nome? Um dia, quando Anna Ledin telefonou para saber notícias da cadela, perguntei-lhe se sabia como o animal adquirira aquele nome.
Fiquei admirado com a resposta.
- Corre o boato que, quando era nova, Sara Larsson trabalhou como empregada de limpeza num cargueiro que aportava frequentemente em Antuérpia. Despediu-se lá e arranjou trabalho como empregada de limpeza numa oficina de lapidação de diamantes. Talvez fossem as recordações dessa época que inspiraram o nome da cadela.
- Diamante teria sido melhor.
De súbito comecei a ouvir pancadas e estrondos do outro lado. Seguiram-se vozes distantes aos gritos e alguém que aparentemente batia sem cessar numa chapa de metal.
- Tenho de desligar.
- Onde está?
- Estamos a preparar-nos para prender um homem que se passou da cabeça num ferro-velho.
A chamada foi cortada. Tentei evocar a cena: a pequena e delicada Anna Ledin, de pistola em punho e com o rabo de cavalo a saltar para cima e para baixo sob o seu boné. Não gostaria nada de ser o objeto da sua ira em tais circunstâncias.
249
Resolvi chamar Carra à cadela. Obviamente que parte da razão para esse nome era uma homenagem à minha filha, que nunca mais me dissera nada, mas que se interessava por Caravaggio. Quais são os motivos que nos levam a dar um determinado nome a um animal de estimação? Não sei.
Foram precisas várias semanas de treino intensivo para a persuadir a esquecer que fora Rubi e a tornar-se numa Carra que corria para mim, ainda que com uma certa relutância, quando a chamava.
Outubro passou, com um tempo bastante instável: alguns dias muito quentes, como uma espécie de verão de S. Martinho atrasado, mas outros caracterizados por ventos gélidos de nordeste. Às vezes, quando olhava para o mar, avistava os bandos de aves migratórias, que se juntavam antes de partirem subitamente para a sua longa viagem em direção ao sul.
Há um tipo especial de melancolia que acompanha a partida de um bando de aves migratórias. Tal como podemos sentir-nos mais animados quando elas regressam. O outono está a terminar. O inverno aproxima-se.
Todas as manhãs, quando acordava, sentia manifestações das dores e padecimentos inerentes à aproximação da velhice. Por vezes preocupava-me por já não conseguir urinar com tanta energia como noutros tempos. Havia algo de especialmente humilhante em pensar numa morte iminente por já não urinar como deve ser. Achava difícil aceitar que os filósofos da Grécia antiga ou os imperadores romanos morressem de cancro na próstata. Ainda que assim fosse, bem entendido.
Refletia acerca da minha vida e, de vez em quando, fazia uma anotação insignificante no meu diário. Deixei de anotar a direção do vento, ou se estava calor ou frio. Em vez disso, passei a inventar os ventos e as temperaturas. No dia 27 de outubro escrevi, para consumo futuro, que a minha ilha fora atingida por um tufão e que a temperatura à noite era superior a trinta e sete graus.
Sentava-me nos meus muitos locais de reflexão. A minha ilha tinha uma forma tão maravilhosa que era sempre possível encontrar um sítio abrigado do vento. Procurava um desses sítios, sentava-
250
-me e interrogava-me acerca das razões pelas quais optara por me transformar na pessoa que era. Algumas das razões básicas não eram difíceis de identificar, bem entendido. Tinha aproveitado a oportunidade de fugir ao ambiente de pobreza em que crescera, onde a constatação diária da vida vulnerável que o meu pai levava me dera força suficiente para fazer o esforço. Mas também compreendi que podia agradecer o facto de ter nascido numa época em que tais fugas eram possíveis. Uma época em que os filhos oprimidos de humildes empregados de mesa podiam ir para a universidade e até tornar-se médicos. Mas por que me transformara numa pessoa que passava a vida a procurar esconderijos, em vez de companhia? Por que nunca quisera ter filhos? Por que vivera a vida como uma raposa, com tantas saídas alternativas da sua toca?
Aquela maldita amputação pela qual não quisera aceitar a responsabilidade fora justamente uma dessas coisas. Não era o único cirurgião ortopédico do mundo a quem acontecera uma coisa dessas.
Houve momentos, nesse outono, em que fui invadido de pânico. Isso levou a serões intermináveis a embrutecer-me à frente da televisão, ou a noites de insónia nas quais lamentava e amaldiçoava a vida que levara.
Por fim chegou uma carta de Louise, qual bóia de salvação atirada a um homem que se afogava. Dizia que tinha passado muitos dias a esvaziar o apartamento de Harriet. Incluía várias fotografias que tinha encontrado entre os papéis da mãe, de cuja existência nunca soubera. Olhei, atónito, para fotografias minhas e de Harriet tiradas há quase quarenta anos. Reconhecia a imagem dela, mas fiquei desanimado, quase abalado, pelo meu aspeto. Numa das fotografias, tirada algures em Estocolmo em 1966, usava barba. Fora a única vez na minha vida que deixara crescer a barba e tinha-me esquecido completamente disso. Não sei quem tinha tirado a fotografia, mas chamou-me a atenção um homem que se via em plano de fundo, a emborcar vodca diretamente da garrafa.
Lembrava-me dele. Mas onde iríamos nós, Harriet e eu? De onde viríamos? Quem tirara o instantâneo?
Folheei as fotografias e fiquei fascinado. Tinha fechado as minhas recordações num quarto selado e deitado fora as chaves.
251
Louise escrevia que tinha redescoberto uma grande parte da sua infância nas semanas que passara a esvaziar o apartamento.
"O que mais me impressionou, foi perceber que nunca soube verdadeiramente nada acerca da minha mãe", escreveu ela. "Deparei com cartas e alguns diários, que ela nunca mantinha durante muito tempo, contendo as reflexões e experiências que nunca me tinha transmitido. Por exemplo, sonhou ser piloto. Dizia-me sempre que ficava apavorada quando era obrigada a meter-se num avião. Queria criar um roseiral em Gotland e tentou escrever um livro, mas nunca conseguiu terminá-lo. Mas o que mais me afetou, foi ter descoberto que ela me tinha dito muitas falsidades. As recordações de infância iam regressando e, uma e outra vez, constatei que ela me mentira. Uma vez disse-me que uma das suas amigas estava doente e que tinha de a ir visitar. Lembro-me de ter chorado e suplicado que ficasse, mas ela disse que a amiga estava tão gravemente doente que tinha mesmo de ir vê-la. Agora constato que, na verdade, ela foi para França com um homem com quem esperava casar; mas ele não tardou a desaparecer da sua vida. Não te maçarei com todos os detalhes do que aqui descobri, mas uma lição que aprendi é que é essencial arrumarmos os nossos pertences e deitarmos fora um monte de coisas antes de morrermos. Admira-me que Harriet não tenha feito isso, quando sabia há tanto tempo que ia morrer. Devia saber o que eu ia encontrar. A única explicação que me ocorre, é que talvez ela quisesse que eu percebesse que, em vários aspetos, ela não era o que eu julgava. Seria importante para ela que eu soubesse a verdade, apesar de isso implicar que também descobriria que ela me mentira muitas vezes? Ainda não consegui decidir se devo admirá-la por isso ou se devo desprezá-la. Seja como for, o apartamento está vazio. Deixarei a chave na caixa do correio e depois vou-me embora. Vou visitar as tais grutas e levarei Caravaggio comigo."
A última frase da carta desconcertou-me. Como podia ela levar Caravaggio consigo? Haveria nas entrelinhas algo que eu não conseguia detetar?
Não me dera qualquer endereço para o qual pudesse enviar uma resposta. Apesar disso, sentei-me nessa mesma noite e comecei
252
a escrever. Comentei as fotografias, contei-lhe como a minha própria memória me deixara ficar mal e falei-lhe também dos meus passeios com Carra à volta dos rochedos. Tentei explicar como estava a tentar compreender a minha vida passada, um pouco como se batalhasse com arbustos espessos e espinhosos, quase intransponíveis.
Acima de tudo, escrevi que tinha saudades dela. Repeti-o uma e outra vez ao longo da carta.
Fechei o envelope, colei o selo e escrevi o nome dela. Depois deixei a carta na secretária, esperando que, um dia, ela me mandasse um endereço.
Tinha acabado de me meter na cama, nessa noite, quando o telefone tocou. Fiquei assustado, com o coração a galope. Quem quer que me ligasse àquela hora não podia ter boas notícias para me dar. Desci à cozinha e peguei no auscultador. Carra estava estendida no chão, a observar-me.
- Fala Agnes. Espero não o ter acordado.
- Não faz mal. Durmo demasiado.
- Estou a chegar.
- Está no cais?
- Ainda não. Tenciono ir amanhã, se estiver bem para si.
- Claro que está bem para mim.
- Pode ir buscar-me?
Atentei no vento e no som das ondas que se arremessavam contra os rochedos em Norrudden.
- Está muito vento para o meu bote. Pedirei a outra pessoa que a vá buscar. A que horas estará no cais?
- Por volta do meio-dia.
Terminou a chamada com tanta brusquidão como começara. Parecia preocupada e era evidente que queria ver-me com urgência.
Comecei a limpar às cinco da manhã. Mudei o saco do meu velho aspirador e constatei que a minha casa estava coberta por uma camada de pó. Levei três horas a pô-la mais ou menos limpa. Após o meu banho habitual, sequei-me, acendi o aquecimento e sentei-me à mesa da cozinha para telefonar a Jansson. Mas acabei por ligar para a guarda costeira. Hans Lundman não estava, fora
253
tratar de qualquer coisa relativa a um dos barcos, mas retribuiu a chamada um quarto de hora depois. Perguntei-lhe se podia ir buscar uma pessoa ao porto e trazê-la a minha casa.
- Sei que não podem transportar passageiros - acrescentei.
- Podemos sempre mandar uma patrulha passar pela tua ilha - retorquiu Hans. - Qual é o nome dele?
- É uma ela. Não há engano possível. Só tem um braço.
Hans e eu somos muito parecidos em certos aspetos. Ao contrário de Jansson, somos pessoas que escondem a sua curiosidade e não fazem perguntas desnecessárias. Mas duvido que Hans meta o nariz nos papéis e pertences dos seus assistentes.
Chamei Carra e fui dar um passeio pela ilha. Era dia 1 de novembro, o mar estava cada vez mais cinzento e as árvores já tinham perdido as últimas folhas. Estava verdadeiramente satisfeito com a visita de Agnes. Apercebi-me com espanto que estava entusiasmado com isso. Imaginei-a nua no chão da minha cozinha, com o seu único braço. Sentei-me no banco, ao pé do pontão, e entreguei-me ao sonho de uma história de amor impossível. Não sabia o que Agnes queria. Mas não me parecia que viesse para me falar do amor que sentia por mim.
Fui à casa dos barcos buscar a espada e a mala de Sima e levei-as para a cozinha. Agnes não dissera nada acerca de passar a noite na ilha, mas preparei-lhe a cama no quarto do formigueiro.
Tinha resolvido transferir o formigueiro para um velho pasto, que estava agora a monte, coberto de mato. Mas, como tantas outras coisas, nunca chegara a fazê-lo.
Por volta das onze fui barbear-me, mas não consegui decidir-me acerca do que vestir. Estava tão nervoso como um adolescente perante a perspetiva da visita dela. Acabei por optar pelas minhas roupas habituais: calças escuras, galochas de cano curto e uma camisola grossa, que estava muito coçada nalguns sítios. Tinha tirado um frango do congelador logo de manhã.
Andei por ali, a limpar o pó em sítios que já tinham sido limpos. Ao meio-dia, vesti o casaco e fui esperar para o pontão. Não era dia de correio, pelo que Jansson não viria incomodar-nos. Carra estava sentada na borda do pontão e parecia pressentir que se preparava qualquer coisa.
254
Hans Lundman surgiu, no grande barco da patrulha da guarda costeira. O motor potente era audível ao longe. Levantei-me quando a embarcação deslizou para a enseada. A água era pouco profunda na zona do pontão, pelo que Hans se limitou a roçar nele com a proa do barco. Agnes emergiu da casa do leme com uma mochila suspensa do ombro. Hans estava uniformizado. Inclinou-se sobre a antepara.
- Muito obrigado pela ajuda - agradeci.
- Tinha de passar por aqui, de qualquer maneira. Vamos a Gotland, procurar um veleiro sem ninguém a bordo.
Ficámos a ver o grande barco patrulha sair da enseada. O cabelo de Agnes flutuava ao vento. Senti um desejo quase irresistível de a beijar.
- Isto é lindo - disse ela. - Tinha tentado imaginar a sua ilha. Agora vejo que estava muito enganada.
- Que tinha imaginado?
- Montes de árvores. Não apenas rochas e o mar aberto. A cadela veio ter connosco. Agnes fitou-me, surpreendida:
- Pensava que tinha dito que o seu cão tinha morrido?
- Arranjei outro. Através de uma agente da polícia. E uma longa história. A cadela chama-se Carra.
Dirigimo-nos para casa. Quis levar-lhe a mochila, mas Agnes abanou a cabeça. Quando entrámos na cozinha, a primeira coisa que ela viu foi a espada e a mala de Sima. Sentou-se numa cadeira.
- Foi aqui que aconteceu? Quero que me conte. Imediatamente. Já.
Contei-lhe todos os detalhes que jamais conseguiria esquecer. Os seus olhos adquiriram uma expressão ausente. O que eu estava a fazer era uma oração fúnebre, não uma descrição clínica de um suicídio que atingira o clímax numa cama de hospital. Quando acabei, ela não disse nada, limitou-se a examinar o conteúdo da mala.
- Porque é que ela fez aquilo? - perguntei. - Deve ter acontecido qualquer coisa quando cá veio, com certeza? Nunca imaginei que ela tentasse pôr fim à vida.
- Talvez tenha encontrado um sentimento de segurança. Algo que não esperava.
- Segurança? Mas pôs fim à vida!
255
- Talvez a sua situação fosse tão desesperada que precisava de se sentir segura para dar o passo final do suicídio? Talvez tenha encontrado esse sentimento de segurança aqui, em sua casa? Tentou mesmo matar-se. Não queria viver. Não se feriu como pedido de socorro. Fê-lo porque não queria continuar a ouvir os seus próprios gritos a ressoar no fundo do seu ser.
Depois perguntou-me se podia ficar até ao dia seguinte. Mostrei-lhe a cama na sala onde as formigas viviam. Ela soltou uma gargalhada. Claro que podia dormir ali. Disse-lhe que havia frango para o jantar. Ela foi à casa de banho. Quando reapareceu, tinha mudado de roupa e apanhado o cabelo no alto da cabeça.
Pediu-me para lhe mostrar a ilha. Carra veio connosco. Contei-lhe que a cadela viera a correr atrás do carro e nos conduzira ao cadáver de Sara Larsson. Agnes mostrou-se incomodada pela minha conversa. Só queria gozar o que podia ver. Estava um dia frio de outono, a fina cobertura de urze dobrava-se num esforço para evitar o vento forte. O mar estava cinzento azulado, havia algas velhas sobre as rochas, exalando um cheiro pútrido. Uma ou outra ave levantava voo das fendas de rocha, quando nos aproximávamos, e elevava-se nas correntes de ar ascendente que se formam sempre na borda das escarpas. Chegámos a Norrudden, de onde se avistam as rochas nuas de Sillhállarna, rasas à superfície da água, antes de começar o mar aberto. Afastei-me um pouco para o lado, a olhar para ela. Estava maravilhada com a vista. Virou-se para mim, depois gritou contra o vento:
- Há uma coisa que nunca te perdoarei. Já não posso aplaudir. É natural sentirmos júbilo dentro de nós e exprimirmos esse júbilo batendo as palmas das mãos.
Não havia nada que pudesse dizer, claro. Ela sabia disso. Aproximou-se de mim e virou as costas ao vento.
- Já fazia isso em criança.
- Fazias o quê?
- Aplaudia quando ia para o campo e via algo belo. Porque havemos de bater palmas apenas sentados em salas de concerto, ou quando ouvimos alguém a discursar? Porque não podemos estar aqui nas escarpas e aplaudir? Não creio que tenha jamais visto coisa mais bela do que isto. Invejo-te por viveres aqui.
256
- Posso aplaudir por ti - sugeri.
Ela anuiu e levou-me para a rocha mais alta e mais distante. Gritou bravo e eu bati palmas. Foi uma experiência estranha.
Prosseguimos a nossa caminhada e chegámos à caravana, por trás da casa dos barcos.
- Não há carro - disse Agnes. - Não há carro, não há estrada, mas há uma caravana. E um par de bonitos sapatos vermelhos de salto alto.
A porta estava aberta. Tinha posto um bocado de madeira a impedi-la de fechar. Os sapatos estavam à entrada, a brilhar. Sentámo-nos no banco, abrigados do vento. Contei-lhe da minha filha e da morte de Harriet. Evitei referir como a abandonara. Mas Agnes não me ouvia, ostentava uma expressão ausente, e compreendi que lá tinha ido por um motivo específico. Não era apenas uma questão de querer ver a minha cozinha e ir buscar a espada e a mala.
- Está frio - disse ela. - Talvez as pessoas só com um braço sintam mais o frio. O sangue é obrigado a seguir vias alternativas.
Voltámos para casa e sentámo-nos na cozinha. Acendi uma vela e pousei-a na mesa. Já começara a anoitecer.
- Vão tirar-me a casa - disse Agnes de repente. - É arrendada, nunca consegui comprá-la. Agora as proprietárias vão tirar-ma. Não posso continuar o meu trabalho sem casa. Claro que posso arranjar emprego noutra instituição, mas não quero fazer isso.
- De quem é a casa?
- De duas irmãs ricas, que vivem em Lausanne. Fizeram uma fortuna a vender produtos naturais duvidosos. Passam a vida a ter de retirar a publicidade aos produtos porque não contêm senão pós inúteis misturados com diversas vitaminas. Mas mal isso acontece, reaparecem com as mesmas coisas em embalagens diferentes e outro nome. A casa era do irmão delas, que morreu sem outros herdeiros. Vão tirar-ma porque os residentes da terra se queixaram das minhas raparigas. Tiram-me a casa e as raparigas também me serão tiradas. Vivemos num país onde se acha que qualquer pessoa que seja um pouco diferente das outras deve ser isolada nas profundezas
257
da floresta ou numa ilha como esta. Precisava de sair de lá para refletir. Talvez para chorar. Talvez para sonhar que tinha dinheiro suficiente para comprar
a casa. Mas não tenho.
- Se o tivesse, comprava-a para ti.
- Não vim aqui pedir isso. Pôs-se em pé.
- Vou lá fora - declarou. - Vou dar mais uma volta pela ilha, antes que fique demasiado escuro.
- Leva a cadela - sugeri. - Se gritares por ela, ela segue-te. E boa companhia. Nunca ladra. Eu trato do jantar enquanto estiveres fora.
Fiquei à porta, a vê-las partir pelos rochedos. De vez em quando, Carra olhava para trás, para ver se eu a chamava. Comecei a fazer o jantar, enquanto imaginava que tinha beijado Agnes.
Ocorreu-me que tinha deixado de sonhar acordado há anos. Sonhar acordado tornara-se tão raro como ter experiências eróticas.
Agnes parecia mais animada quando regressou.
- Tenho de confessar - disse ela, antes mesmo de despir o casaco para se sentar à mesa - que não consegui resistir a experimentar os sapatos da tua filha. Ficam-me perfeitamente.
- Não posso dar-tos, por muito que queira.
- As minhas raparigas davam-me uma tareia se lhes aparecesse de saltos altos.
Enroscou-se no sofá da cozinha e ficou a ver-me pôr a mesa e servir a refeição. Tentei falar, mas ela mostrava-se relutante era responder. Acabámos de comer em silêncio. Estava escuro lá fora. Tomámos café e acendi o lume no velho fogão a lenha, que só uso no pino do inverno. Estava um pouco afetado pelo vinho que tínhamos bebido ao jantar. Agnes também não parecia estar cem por cento sóbria. Quando enchi as chávenas de café, ela rompeu o silêncio. Começou a falar acerca da sua vida e dos anos difíceis.
- Procurei alguma forma de consolo - contou. - Tentei beber, mas isso só servia para me deixar maldisposta. Então comecei a fumar droga. Mas isso só servia para me deixar ensonada e doente, e agravava a minha angústia pelo que acontecera. Tentei arranjar amantes que conseguissem lidar com o facto de eu só ter
258
um braço e dediquei-me ao desporto. Acabei por me tornar uma corredora de meia distância bastante boa, mas cada vez menos entusiástica. Escrevi poesia e enviei cartas para vários jornais, e estudei a história da amputação. Candidatei-me a empregos como apresentadora em todos os canais de televisão suecos e também alguns estrangeiros. Mas não encontrei consolo em parte nenhuma, não conseguia acordar de manhã sem pensar na intolerável tragédia que tivera lugar. Claro que tentei usar um braço artificial, mas nunca consegui fazê-lo funcionar como devia. A única possibilidade que me restava era Deus. Procurei consolo de joelhos. Li a Bíblia, fiz um esforço para me familiarizar com o Alcorão, fui a encontros pentecostais e até experimentei uma seita perigosa, chamada Mundo da Vida. Interessei-me vagamente por várias outras seitas e ponderei a hipótese de tomar o véu. Fui a Espanha, nesse outono, e percorri o longo caminho para Santiago de Compostela. Segui o caminho que os peregrinos tomavam e meti uma pedra pesada na minha mochila, como manda a tradição, pronta a atirá-la para longe quando encontrasse solução para os meus problemas. Escolhi um pedaço de calcário que pesava quatro quilos, carreguei-o às costas todo o caminho e só o tirei da mochila quando cheguei ao meu destino. Todo o tempo ia alimentado a esperança de que Deus me apareceria e falaria comigo. Mas Ele falava demasiado baixo. Nunca ouvi a Sua voz. Havia sempre alguém aos gritos no fundo, abafando-o.
- Quem?
- O Diabo. Gritava comigo. Fiquei a saber que Deus sussurra, mas o Diabo grita. Não havia lugar para mim naquela batalha. Quando fechei a porta da igreja atrás de mim, não me restava nada. Mas acabei por compreender que aquele vazio era uma espécie de consolo. De maneira que resolvi dedicar-me aos que eram menos afortunados do que eu. Foi assim que entrei em contacto com as raparigas de quem mais ninguém queria saber.
Bebemos o que restava de vinho e ficámos ainda mais bêbedos. Tinha dificuldade em concentrar-me no que ela estava a dizer, porque queria agarrá-la, fazer amor com ela. Começámos a rir, por causa do vinho, e ela contou histórias das reações causadas pelo seu coto.
259
- Às vezes fingia que tinha sido mordida por um tubarão, ao largo da costa australiana. Outras, tinha sido um leão que me arrancara o braço na savana do Botswana. Tinha sempre o cuidado de me mostrar convincente e aparentemente as pessoas acreditavam no que lhes dizia. Quando estava a falar com pessoas de quem não gostava, por qualquer razão, esforçava-me a sério para descrever incidentes verdadeiramente horríveis e sangrentos. Dizia que alguém mo tinha serrado com uma serra eiétrica, ou que tinha ficado preso numa máquina que o cortara em fatias. Uma vez até consegui fazer desmaiar um homem grande e forte! A única coisa que nunca afirmei, foi que tinha ido parar a uma tribo de canibais que me tinham cortado o braço para o comer.
Saímos para olhar as estrelas e ouvir o mar. Tentei manter-me suficientemente perto dela para roçar no seu corpo. Ela não pareceu dar por isso.
- Há uma espécie de música que nunca se consegue ouvir - disse ela.
- O silêncio canta. Consegue-se ouvi-lo.
- Não é a isso que me refiro. Estou a imaginar a existência de uma música que não podemos ouvir com os nossos ouvidos. A certa altura, num ponto distante do futuro, quando a nossa audição for mais refinada e tiverem sido inventados novos instrumentos, seremos capazes de apreciar e tocar essa música.
- É um belo pensamento.
- Creio saber como será. Como vozes humanas, quando estão na sua máxima pureza. Vozes de pessoas que cantam sem o menor vestígio de medo.
Voltámos para dentro. Por essa altura, estava tão bêbedo que não conseguia andar direito. Quando nos instalámos na cozinha, servi um pouco de brandy. Agnes tapou o copo com a mão e levantou-se.
- Preciso de dormir - declarou. - Foi uma noite notável. Já não estou tão deprimida como quando aqui cheguei.
- Quero que fiques cá - respondi. - Quero que durmas comigo, no meu quarto.
Levantei-me e envolvi-a nos braços. Ela não resistiu quando a puxei para mim. Só quando tentei beijá-la é que começou a debater-
260
-se. Disse-me para parar com aquilo, mas eu estava incapaz de me deter. Ficámos ali, no meio da cozinha, a puxar-nos e empurrar-nos. Ela gritou-me que a largasse, mas empurrei-a contra a mesa e escorregámos para o chão. Ela conseguiu libertar a mão e arranhou-me a cara. Deu-me um pontapé no estômago, com tanta força que fiquei sem fôlego. Não conseguia falar. Procurei uma saída, que não existia, e ela empunhou uma das minhas facas de cozinha à laia de arma. Por fim, consegui pôr-me em pé e sentei-me numa cadeira.
- Porque fizeste aquilo?
- Peço desculpa. Não era minha intenção. A solidão que tenho de suportar aqui está a pôr-me doido.
- Não acredito em ti. Podes muito bem sentir-te só, não sei nada a esse respeito. Mas não foi por isso que me atacaste.
- Espero que possas esquecer isto. Perdoa-me, por favor. Não devia beber álcool.
Ela pousou a faca e ficou de pé à minha frente. Vi a sua raiva e a sua desilusão. Não havia nada que pudesse dizer. De súbito, senti-me verdadeiramente envergonhado.
Agnes sentou-se na ponta do sofá da cozinha. Tinha desviado o rosto e estava a olhar pela janela escurecida.
- Sei que é imperdoável. Lamento o que aconteceu e desejava poder desfazer o que fiz.
- Não sei o que julgavas que estavas a fazer. Se pudesse, ia-me imediatamente embora. Mas estamos no meio da noite, não é possível. Ficarei aqui até amanhã.
Levantou-se e saiu da cozinha. Ouvi-a barricar a maçaneta da porta com uma cadeira. Saí e tentei espreitar pela janela. Ela tinha apagado a luz. Talvez pressentisse que eu estava lá fora, a tentar vê-la. A cadela surgiu da escuridão. Empurrei-a com o pé. Não conseguia aguentar a sua presença naquele momento.
Fiquei toda a noite acordado. Às seis horas desci à cozinha e escutei à porta dela. Não consegui perceber se estava a dormir ou acordada. Às sete menos um quarto abriu a porta e entrou na cozinha, com a mochila na mão.
- Como posso sair daqui?
261
- Neste momento não há vento nenhum. Se esperares até amanhecer, posso levar-te para terra.
Ela calçou as botas.
- Quero dizer uma coisa acerca do que aconteceu a noite passada. Ela levantou imediatamente a mão.
- Não há mais nada a dizer. Não és a pessoa que eu julgava. Quero pôr-me a andar daqui o mais depressa possível. Esperarei ao pé do pontão até amanhecer.
- Não podes ouvir pelo menos o que tenho para dizer? Agnes não respondeu, mas pôs a mochila ao ombro, pegou na
mala e na espada de Sima, e desapareceu na escuridão.
O sol não tardaria a nascer. Era evidente que ela não me daria ouvidos, se eu fosse ao pontão tentar falar com ela. Assim, sentei-me à mesa e escrevi-lhe uma carta.
"Podias trazer as tuas raparigas para aqui. Deixa as irmãs e a aldeia em paz. Tenho licença de construção para uma casa nas fundações de pedra do antigo celeiro. A casa dos barcos tem um quarto anexo, que pode ser isolado e mobilado. Há quartos vazios aqui, na casa principal. Se posso acomodar uma caravana, não há qualquer razão para não ter outra. Há espaço de sobra na ilha."
Desci ao pontão. Ela levantou-se e sentou-se no barco. Estendi-lhe a carta, sem dizer palavra. Ela hesitou antes de a aceitar e enfiar na mochila.
O mar estava liso como um espelho. O som do meu motor fora de borda rasgou a calmaria e assustou alguns patos, que voaram para o mar. Agnes ia sentada na proa, de costas para mim.
Deslizei para a parte mais baixa do cais e desliguei o motor.
- Parte uma camioneta daqui - expliquei. - O horário está ali, na parede.
Ela trepou para o cais sem uma palavra.
Voltei para casa e fui dormir. À tarde, peguei no meu velho puzzle de Rembrandt e despejei as peças na mesa da cozinha. Comecei do princípio, sabendo que nunca o terminaria.
Soprou um vento forte de nordeste no dia a seguir à partida de Agnes. Fui acordado pelo barulho de uma janela a bater. Vesti-me e
262
fui verificar se o barco se encontrava bem ancorado. Estava maré alta e as ondas varriam o pontão e iam embater na parede da casa dos barcos. Servi-me de uma corda extra para amarrar duplamente a popa do bote. O vento uivava em torno das paredes. Quando era pequeno, os ventos uivantes deixavam-me paralisado de medo. Dentro da casa dos barcos, durante um temporal, o barulho do vento é tremendo: como vozes de pessoas a gritar e a lutar. Mas agora os ventos fortes fazem-me sentir seguro. Sentia-me fora do alcance de tudo e todos. A tempestade prolongou-se por mais dois dias. No segundo dia, Jansson conseguiu chegar à ilha. Por uma vez sem exemplo, veio atrasado. Quando finalmente apareceu, contou-me que o seu motor falhara entre Rõhoimen e Hõga Skársnãset.
- Nunca tinha tido problemas - disse ele. - Estava-se mesmo a ver que o motor havia de avariar com um tempo destes. Tive de largar uma âncora de capa, mas mesmo
assim quase fui parar aos rochedos de Rõhoimen. Se não tivesse conseguido pôr o motor outra vez a trabalhar, teria naufragado.
Nunca o tinha visto tão abalado. Por uma vez, fui eu quem lhe disse para se sentar no banco enquanto lhe media a tensão. Estava um pouco mais alta que de costume, mas nada do que seria de esperar considerando o susto que ele apanhara.
Jansson voltou para o barco, que oscilava e raspava no pontão.
- Não tenho correio para si - informou -, mas Hans Lund-man pediu-me que lhe trouxesse um jornal.
- Porquê?
- Não me disse. E de ontem. Estendeu-me um dos diários nacionais.
- Ele não disse absolutamente nada?
- Só me pediu que lho desse. É um homem de poucas palavras, como sabe.
Dei um empurrão à proa do barco, enquanto Jansson saía em marcha à ré para as garras do vendaval. Ao virar de bordo, quase encalhou nos baixios. Mas, no último momento,
conseguiu arrancar potência suficiente ao motor para sair da enseada.
A saída do pontão, vi algo branco a flutuar mesmo à frente do sítio onde se encontrava a caravana. Fui investigar e vi que se
263
tratava de um cisne morto. O seu longo pescoço serpenteava como uma cobra no meio das algas. Voltei à casa dos barcos, pousei o jornal na banca de ferramentas e calcei um par de luvas de trabalho. Depois fui recolher o cisne. Uma rede de pesca de nylon enterrara-se profundamente no seu corpo e emaranhara-se nas penas. O animal tinha morrido de fome, pois não pudera procurar comida. Levei-o para terra e pousei-o nas rochas. Não tardaria que os corvos e as gaivotas comessem a carcaça. Carra veio investigar e farejou a ave.
- Não é para ti - disse-lhe eu. - É para outras criaturas famintas.
De súbito, a perspetiva de ir fazer o puzzle deixou-me cansado. Fui à casa dos barcos, peguei numa das minhas redes de pesca de peixes chatos, sentei-me na cozinha
e comecei a repará-la. O meu avô tinha-me ensinado a entrançar cordas e a consertar redes. Os meus dedos ainda dominavam as técnicas e o know-how. Trabalhei até escurecer. Na minha cabeça ia conduzindo uma conversa com Agnes acerca do que se passara. A reconciliação é possível no mundo da imaginação.
À noite comi o resto do frango. Quando terminei, estendi-me no sofá da cozinha e fiquei a ouvir o vento. Preparava-me para ligar o rádio e ouvir as notícias, quando me lembrei do jornal que Jansson trouxera. Peguei na minha lanterna e fui à casa dos barcos buscá-lo.
Hans Lundman raramente fazia alguma coisa sem um propósito específico. Sentei-me à mesa da cozinha e tratei de esquadrinhar o jornal, em busca do que ele queria que eu visse.
Encontrei o que procurava na página quatro, na secção dedicada às notícias internacionais. Tratava-se da fotografia de uma cimeira de estadistas europeus. Presidentes e primeiros-ministros. Tinham-se alinhado para a fotografia. Em primeiro plano via-se uma mulher nua, levantando um cartaz nas mãos. Por baixo da fotografia havia algumas palavras acerca do embaraçoso incidente. Uma mulher, envergando uma gabardina preta, conseguira introduzir-se na conferência de imprensa, utilizando um passe falso. Uma vez lá dentro, despira a gabardina e levantara o seu
264
cartaz. Vários seguranças tinham-se apressado a levá-la dali. Olhei para a fotografia e senti uma dor no estômago. Tinha uma lupa numa das gavetas da cozinha. Examinei de novo a imagem. Sentia-me cada vez mais preocupado, à medida que as minhas suspeitas se confirmavam. A mulher era Louise. Era o rosto dela, ainda que estivesse ligeiramente desfocado. Ali estava ela, fazendo um gesto triunfante e desafiador.
O texto do cartaz era acerca da gruta onde as antigas pinturas rupestres estavam a ser destruídas pelo bolor.
Lundman tinha a vista apurada. Reconhecera-a. Talvez ela lhe tivesse falado da gruta, na festa do solstício de verão.
Peguei num pano de cozinha e limpei o suor que me escorria pelo corpo. Tinha as mãos a tremer.
Saí para o vento, chamei a cadela e sentei-me na escuridão, no banco da minha avó.
Sorri. Louise estava algures por ali, a devolver-me o sorriso. Tinha uma filha da qual podia orgulhar-me a sério.
265
CAPÍTULO 3
Um dia, a meio de novembro, chegou finalmente a carta que tanto esperava. Entretanto, já todo o arquipélago sabia que eu tinha uma filha que causara sensação diante dos principais líderes europeus.
Sem dúvida que Jansson contribuíra para espalhar e exagerar os boatos: alegava-se que Louise fizera um striptease e se saracoteara eroticamente de um lado para o outro antes de ser levada. Depois teria atacado violentamente os seguranças e mordido um deles, salpicando os sapatos de Tony Blair com sangue. Por fim, teria sido condenada a uma pena de prisão.
Louise estava em Amesterdão. Escrevia que estava num pequeno hotel, perto da estação de caminhos de ferro e do bairro vermelho da cidade. Estava a descansar e todos os dias visitava uma exposição na qual eram comparadas as obras de Rembrandt e Caravaggio. Estava cheia de dinheiro. Muitos anónimos tinham-lhe enviado presentes e a imprensa pagara grandes somas pela sua história. Não fora punida pela sua manifestação. A carta terminava com a notícia de que tencionava regressar à ilha no princípio de dezembro.
A carta continha um endereço. Escrevi a resposta sem mais delongas e entreguei-a a Jansson, juntamente com a carta que não pudera enviar mais cedo. Ele ficou curioso ao ver o nome de Louise, mas não disse nada.
A carta dela deu-me coragem para escrever a Agnes. Não recebera quaisquer notícias dela desde a sua visita. Sentia-me envergonhado.
266
Pela primeira vez na minha vida, não conseguia encontrar uma desculpa para o meu comportamento. Era simplesmente impossível ignorar o que acontecera naquela
noite.
Escrevi-lhe a implorar o seu perdão. Nada mais, apenas isso. Uma carta de dezanove palavras, cuidadosamente escolhidas uma a uma.
Agnes telefonou dois dias depois. Estava a dormitar diante da televisão e, quando atendi, julgava que era Louise.
- Recebi a tua carta. O meu primeiro impulso foi deitá-la fora sem a abrir, mas acabei por lê-la. Aceito as tuas desculpas. Partindo do princípio que aquilo que escreveste é sincero?
- Cada palavra.
- Provavelmente não percebes a que me refiro. Estou a falar do que escreveste acerca da tua ilha e das minhas raparigas.
- Claro que podem vir todas para cá. Ouvi a sua respiração.
- Venham para cá - repeti.
- Ainda não. Para já, não. Tenho de pensar bem nas coisas. Pousei o auscultador. Sentia o mesmo tipo de regozijo que
sentira depois de ler a carta de Louise. Saí, olhei para as estrelas e pensei que estava quase a fazer um ano desde que Harriet aparecera no gelo, e a minha vida começara a mudar.
No fim de novembro, a costa foi atingida por outro temporal. Os ventos fortes de leste chegaram ao auge na segunda tarde. Fui ao pontão e reparei que a caravana oscilava de modo alarmante sob a força do vento. Consegui estabilizá-la, com o auxílio de algumas pedras, que geralmente serviam para ancorar as redes, e de uns toros de madeira trazidos pelo mar. Já tinha posto um velho aquecimento elétrico lá dentro, para que estivesse quente e confortável quando Louise regressasse.
Quando a tempestade passou, fui dar uma volta pela ilha. Os vendavais de leste têm frequentemente por resultado a beira-mar ficar atulhada de madeira flutuante. Desta vez não achei toros grandes, mas uma velha cabina de um barco de pesca fora arrastada para as rochas. A princípio julguei que se tratava da parte de cima
267
de um barco, afundado pela tempestade, mas quando fui investigar mais de perto, concluí que era uma velha casa do leme. Após um momento de reflexão, fui a casa e telefonei a Hans Lundman. Afinal, o que tinha encontrado podia ser um destroço de um barco de pesca naufragado. Uma hora depois tinha a guarda costeira na ilha. Conseguimos arrastar a cabina para terra e segurá-la com uma corda. Hans confirmou que não se tratava de um destroço recente e que não houvera participações de barcos de pesca desaparecidos.
- Devia estar algures em terra, mas o vendaval arrastou-a para o mar. Está completamente podre e há muitos anos que não pertence a barco nenhum. Calculo que tenha uns trinta ou quarenta anos.
- Que faço com ela? - inquiri.
- Se tivesse crianças pequenas, podia servir de casa de brinquedos. Assim, não me parece que possa ter grande utilidade, para além de dar para lenha.
Disse-lhe que Louise vinha para casa.
- A propósito, nunca consegui compreender como reparaste nela no jornal. A fotografia era muito má. Mesmo assim, conseguiste ver que era ela?
- Quem sabe como e por que motivo vemos o que vemos? Andrea tem saudades dela. Não se passa um dia sem que calce aqueles sapatos e pergunte por Louise. Penso muitas vezes nela.
- Mostraste a fotografia do jornal a Andrea? Hans olhou para mim, surpreendido.
- Claro que mostrei.
- Não é uma fotografia muito própria para crianças. Quer dizer, ela estava nua.
- E depois? E mau para as crianças quando não lhes dizemos a verdade. As crianças sofrem com as mentiras, tal e qual como os adultos.
Voltou para o seu barco e engatou a marcha à ré. Fui buscar um machado e comecei a rachar a velha casa do leme que viera parar à minha porta. Foi um trabalho bastante fácil, por a madeira estar tão podre.
Concluída a tarefa, endireitei-me e senti uma dor intensa no peito. Tinha diagnosticado muitos espasmos coronários ao longo
268
da vida, pelo que compreendi imediatamente o significado da dor. Sentei-me numa pedra grande, respirei fundo, desabotoei a camisa e esperei. Decorridos cerca de
dez minutos, a dor passou. Esperei mais dez minutos antes de me dirigir para casa, num passo muito lento. Eram onze da manhã. Telefonei a Jansson. Tive sorte: era
o seu dia de folga. Não lhe disse nada acerca da minha dor, limitei-me a pedir-lhe que me viesse buscar.
- Isso é uma decisão muito rápida - observou ele.
- Que quer dizer com isso?
- Normalmente pede-me que o vá buscar com uma semana de
antecedência.
- Pode vir buscar-me ou não?
- Estarei aí dentro de meia hora.
Quando chegámos a terra, disse-lhe que provavelmente regressaria no mesmo dia, mas não sabia dizer ao certo quando. Ele estava a rebentar de curiosidade, mas não lhe dei qualquer explicação.
Quando cheguei ao centro de saúde, expliquei o que tinha acontecido. Após uma curta espera, fui submetido aos exames do costume, fiz um eletrocardiograma e falei com um médico. Devia ser um daqueles médicos temporários que atualmente passam a vida a andar de um centro de saúde para outro, porque estes não conseguem atrair médicos a longo prazo. Deu-me a medicação e as instruções que eu esperava, bem como uma credencial para o hospital, para um exame mais detalhado.
Telefonei a Jansson da receção e pedi-lhe que me viesse buscar. Depois comprei duas garrafas de brandy e voltei para o porto.
Só mais tarde, depois de já estar de novo na ilha, é que o medo veio à tona. A morte tentara surpreender-me e testara a minha capacidade de resistência. Bebi um copo de brandy. Depois saí, parei na borda de um penhasco e gritei para o mar. Gritava o meu medo, disfarçado de raiva.
A cadela estava sentada a uma certa distância, a olhar para mim. Já não queria estar sozinho. Não queria ser como uma das rochas da minha ilha, a observar em silêncio a inevitável passagem dos dias e do tempo.
269
Tinha consulta no hospital no dia três de dezembro. Não havia nada de fundamentalmente errado com o meu coração. Medicação, exercício e uma dieta adequada deveriam manter-me vivo por mais alguns anos. O médico andava pela minha idade. Contei-lhe os factos, reconheci que tinha sido médico outrora, mas depois mudara-me para uma velha casa de pescador numa ilha ao largo da costa. Ele manifestou uma falta de interesse amigável e, quando me preparava para sair, disse-me que tinha um ligeiro toque de angina de peito.
Louise chegou no dia sete de dezembro. A temperatura baixara e o outono estava finalmente a ceder o lugar ao inverno. A chuva acumulada nas fendas das rochas começou
a gelar à noite. Louise tinha telefonado de Copenhaga e pedira-me para combinar com Jansson ir buscá-la ao porto. A chamada foi cortada antes que eu tivesse tempo para lhe fazer mais perguntas. Liguei o aquecimento elétrico na caravana, engraxei os sapatos dela, limpei tudo e fiz a cama com lençóis lavados.
Não tivera mais dores no peito. Escrevi a Agnes, perguntando se já refletira acerca da minha sugestão. Ela respondeu com um postal ilustrado. Era uma reprodução de um quadro de Van Gogh e o texto consistia de duas palavras: "Ainda não."
Perguntei-me o que Jansson teria pensado ao ler o postal.
Louise desembarcou no pontão transportando apenas a mesma mochila que levara ao partir. Esperava vê-la a debater-se com uma quantidade de malas grandes, contendo as muitas coisas colecio-nadas durante a sua expedição. Mas a verdade é que a mochila parecia mais vazia agora do que quando ela partira.
Jansson não parecia ter muita vontade de ir embora. Dei-lhe um envelope com o dinheiro que ele pedira para pagar as passagens e agradeci-lhe a sua ajuda. Louise cumprimentou a cadela. Ao que parecia, entenderam-se às mil maravilhas. Abri a porta da caravana, que estava agradavelmente quente. Ela depositou a mochila lá dentro, depois veio para casa comigo. Antes de entrarmos, deteve-se por um momento diante do montículo que assinalava a sepultura debaixo da macieira.
270
Grelhei uma posta de bacalhau para o jantar. Ela devorou-a como se não comesse há semanas. Achei-a mais pálida e talvez ainda mais magra do que antes. Contou-me que o seu plano para invadir a cimeira fora gizado antes de deixar a ilha.
- Sentei-me no banco ao pé da casa dos barcos e planeei tudo - disse ela. - Sentia que não adiantava nada continuar a escrever as cartas. Tinha-me apercebido de
que talvez nunca tivessem tido qualquer significado para ninguém além de mim. Portanto optei por outra via.
- Porque não disseste nada?
- Não te conheço suficientemente bem. Podias ter tentado impedir-me.
- Porque faria isso?
- Harriet tentava sempre obrigar-me a fazer o que ela queria. Porque havias de ser diferente?
Tentei fazer-lhe mais perguntas acerca da sua expedição, mas ela abanou a cabeça. Estava cansada, precisava de repouso.
A meia-noite, acompanhei-a à caravana. O termómetro do lado de fora da janela da cozinha indicava um grau acima de zero. Louise estremeceu de frio e pegou-me no braço. Era uma coisa que nunca tinha feito antes.
- Sinto a falta da floresta - confessou. - Tenho saudades dos meus amigos. Mas agora é este o sítio onde a caravana está. Foi simpático da tua parte tê-la aquecido
para mim. Vou dormir como uma pedra e sonhar com todos os quadros que vi nos últimos meses.
- Engraxei os teus sapatos vermelhos - disse eu.
Ela deu-me um beijo na bochecha antes de desaparecer dentro da caravana.
Manteve-se afastada nos primeiros dias após a sua chegada. Vinha comer quando a chamava, mas falava pouco e ficava irritada se lhe fizesse muitas perguntas. Uma noite, fui à caravana e espreitei pela janela. Ela estava sentada à mesa, a escrever qualquer coisa num bloco. Virou-se de repente e olhou pela janela. Acocorei-me e contive a respiração. Ela não abriu a porta. Esperava que não me tivesse visto.
271
Enquanto aguardava que Louise se tornasse novamente acessível, ia dar grandes passeios com a cadela todos os dias, para me manter em forma. O mar estava cinzento-azulado, cada vez se viam menos aves marinhas. O arquipélago recolhia-se à sua concha de inverno.
Uma noite, escrevi o que seria o meu novo testamento. Tudo o que possuía iria para Louise, bem entendido. A promessa que fizera a Agnes continuava a roer-me, mas fiz o que sempre fizera em circunstâncias semelhantes: empurrei as preocupações para o lado e convenci-me de que as coisas se arranjariam por si próprias, se e quando fosse caso disso.
Na manhã do oitavo dia após o seu regresso, Louise estava sentada à mesa da cozinha quando desci, por volta das sete horas.
- Já não estou cansada - anunciou. - Já sou capaz de enfrentar outras pessoas.
- Agnes - comecei. - Convidei-a a vir para cá. Talvez possas convencê-la de que devia mudar-se para aqui com as raparigas.
Louise olhou-me com uma expressão surpreendida, como se não tivesse ouvido bem o que eu dissera. Não fazia ideia do perigo que avançava sobre mim. Contei-lhe da visita de Agnes embora, escusado será dizer, não tenha dito nada acerca do que acontecera entre nós.
- Pensei deixar Agnes e as raparigas viverem cá quando já não tiverem a casa onde ela tem o lar de acolhimento.
- Quer dizer que vais dar a ilha?
- Sou só eu e a cadela, aqui. Porque não há de esta ilha tornar-se novamente útil?
Louise ficou furiosa e deu um murro na chávena de café que estava em cima da mesa, à sua frente. Pedacinhos de louça da chávena e do pires saltaram para a parede.
- Então vais oferecer a minha herança? Não vais deixar-me nada quando partires? Até agora nunca tive uma única coisa tua.
Dei por mim a gaguejar quando respondi:
- Não vou dar-lhe nada. Apenas a deixo cá ficar.
Louise fitou-me longa e fixamente. Era como estar a ser confrontado por uma serpente. Depois levantou-se com tanta violência que a sua cadeira caiu ao chão. Agarrou no casaco e saiu de rompante, deixando a porta aberta. Esperei e voltei a esperar que regressasse.
272
Fechei a porta. Finalmente compreendia o que significara para ela aquele dia em que eu aparecera à porta da sua caravana. Dera-lhe um bem. Até renunciara à floresta pelo mar, por mim e pela minha ilha. Agora julgava que ia tirar-lhe tudo isso.
Não tinha quaisquer herdeiros além de Louise. A certa altura, nutrira a ideia de deixar a ilha a uma ou outra fundação do arquipélago. Mas isso significava que, algures no futuro, haveria políticos gananciosos sentados no meu pontão, a gozar o mar. Agora tudo mudara. Se eu caísse redondo e morresse nessa mesma noite, Louise seria a minha herdeira direta. O que depois fizesse com a ilha só a ela diria respeito.
Não apareceu todo o dia seguinte. À tardinha, fui à caravana. Estava sentada na cama. Tinha os olhos abertos. Hesitei antes de bater à porta.
- Vai-te embora!
A sua voz estava tensa e estridente.
- Temos de falar nisto.
- Vou pôr-me a andar daqui para fora.
- Ninguém te tirará jamais esta ilha. Não tens de te preocupar.
- Vai-te embora!
- Abre a porta!
Experimentei a maçaneta. Não estava trancada. Mas antes que tivesse tempo para me mexer, ela abriu a porta de supetão. Acertou-me em cheio na cara, rasgando-me o lábio inferior. Caí para trás e bati com a cabeça numa pedra. Antes que conseguisse levantar-me, Louise tinha-se atirado para cima de mim e estava a bater-me na cara com o que restava de um velho cinto de salvação de cortiça, que se encontrava no chão.
- Para com isso. Estou a sangrar.
- Não estás a sangrar bastante!
Agarrei no cinto de salvação e arranquei-lho das mãos. Então ela começou a esmurrar-me. Por fim, consegui escapar às suas garras. Encarámo-nos, arquejantes.
- Vem lá a casa. Temos de falar.
- Estás com péssimo aspeto. Não queria bater-te com tanta força.
273
Voltei para a cozinha e fiquei chocado ao ver o meu rosto coberto de sangue. Verifiquei que não abrira apenas o lábio, mas também a sobrancelha direita. Ela atirou-me ao tapete, pensei para comigo. Tinha feito bom uso dos seus conhecimentos de pugilismo, embora tivesse sido a porta da caravana a vibrar o golpe mais destruidor.
Limpei a cara e enrolei uns quantos cubos de gelo num pano, que comprimi contra a boca e a sobrancelha. Só passado um bocado ouvi os passos dela a aproximar-se da porta.
- Está muito mau?
- Devo sobreviver. Mas espalhar-se-ão novos boatos pelas ilhas. Como se não bastasse a minha filha despir-se diante dos homens que governam o mundo, quando volta para casa comporta-se como uma doida furiosa para com o seu velho pai. És pugilista, deves saber o que pode acontecer a uma cara.
- Não foi por querer.
- Claro que foi. Acho que o que realmente querias, era matar-me antes que eu pudesse escrever um testamento que te deserdasse.
- Fiquei perturbada.
- Não precisas de dar explicações. Mas estás enganada. A única coisa que quero fazer, é ajudar Agnes e as miúdas. Nem ela, nem eu podemos dizer quanto tempo durará esta combinação. É tudo. Nada mais. Nem promessas, nem ofertas.
- Julguei que ias abandonar-me outra vez.
- Nunca te abandonei. Abandonei Harriet. Não sabia nada a teu respeito. Se soubesse, tudo podia ter sido diferente.
Esvaziei o pano e enchi-o com nova porção de cubos de gelo. O meu olho estava quase completamente fechado.
As coisas tinham começado a acalmar. Sentámo-nos à mesa da cozinha. Doía-me a cara. Estendi a mão e pousei-lha no braço.
- Não vou tirar-te nada. Esta ilha é tua. Se não quiseres que ela venha para cá com as raparigas, enquanto procuram um novo lar, então claro que lhe escreverei a dizer que não é possível.
- Lamento que estejas nesse estado. Mas há bocado, era assim que eu estava por dentro.
- Vamos deitar-nos - retorqui. - Vamos para a cama e amanhã acordarei com uma coleção perfeita de equimoses.
274
Levantei-me e fui para o meu quarto. Ouvi Louise a fechar a porta da frente atrás de si.
Tínhamos estado à beira de uma tempestade. Passara muito perto, mas não nos envolvera completamente.
Passa-se qualquer coisa, pensei para comigo, quase com alegria. Nada de muito profundo, mas, ainda assim, qualquer coisa. Estamos a avançar para algo novo e desconhecido.
Os dias de dezembro foram frios e opressivos. No dia 12 de dezembro anotei no meu diário que tinha nevado um pouco durante a tarde. Nada de mais e não por muito tempo. As nuvens estavam imóveis no céu.
O meu rosto magoado doía e demorou muito a sarar. Jansson ficou de boca aberta quando fui ter com ele ao pontão, na manhã a seguir à discussão. Louise apareceu para o cumprimentar. Estava sorridente. Tentei sorrir, mas não consegui. Jansson não resistiu a perguntar o que tinha acontecido.
- Um meteoro - respondi. - Uma estrela cadente.
Louise continuava a sorrir. Jansson não fez mais perguntas.
Escrevi a Agnes e convidei-a para vir à ilha conhecer a minha filha. Ela respondeu ao fim de alguns dias, dizendo que ainda era demasiado cedo. Também ainda não decidira se aceitaria ou não a minha proposta. Sabia que teria de tomar uma resolução em breve, mas ainda não o fizera. Percebi que ainda estava ofendida e desapontada. Talvez me sentisse aliviado por ela não vir. Ainda não estava convencido de que Louise não fosse atacar-me outra vez.
Todos os dias percorria a ilha com a cadela. Auscultava o meu coração. Tinha adquirido o hábito de medir a minha pulsação e tensão arterial uma vez por dia. Dia sim, dia não, depois de repousar, dia sim, dia não, sem ter repousado. O coração continuava a bater calma e regularmente no interior da minha caixa torácica. O companheiro fiel da minha jornada através da vida, ao qual não dedicara grande atenção. Caminhava à volta da ilha, uma e outra vez, tentando não me desequilibrar nas rochas escorregadias. De vez em quando, parava a contemplar o horizonte. Se tivesse de deixar a ilha, o que mais falta me faria seriam as rochas, as escar-
275
pas e o horizonte. Este mar interior, que estava a transformar-se lentamente num lodaçal, nem sempre exalava odores agradáveis. Era um mar sujo, que por vezes cheirava a ressaca. Mas o horizonte era puro e limpo, tal como as rochas e as escarpas.
Enquanto fazia a minha caminhada diária em redor da ilha, com as minhas galochas de cano curto, era como se transportasse o coração nas mãos. Embora as leituras diárias fossem boas, por vezes sentia um certo pânico. Estou a morrer, o meu coração vai deixar de bater daqui a poucos segundos. Acabou tudo, a morte vai atacar antes que esteja preparado para ela.
Pensava para comigo que devia falar a Louise acerca dos meus medos. Mas não lhe disse nada.
O solstício de inverno aproximava-se. Um dia, Louise sentou-se numa cadeira, no meio da minha cozinha, e pediu-me que segurasse num espelho. Depois pegou numa tesoura de cozinha e cortou os seus longos cabelos, pintou o que restava de ruivo e riu com satisfação duas horas depois, ao examinar o resultado. O seu rosto tornara-se mais nítido. Era como se um canteiro de flores tivesse acabado de ser limpo de ervas.
No dia seguinte foi a minha vez. Tentei resistir, mas ela mostrou-se inflexível. Sentei-me na cadeira da cozinha e ela cortou-me o cabelo. Os seus dedos pareciam delicados e a tesoura, difícil de manejar. A certa altura, declarou que o meu cabelo começava a rarear no cimo da cabeça e sugeriu que um bigode me ficaria bem.
- Adoro ter-te aqui - disse eu. - De uma maneira ou de outra, tudo se tornou mais claro. Dantes, quando olhava para a minha cara num espelho, nunca sabia ao certo o que estava a ver. Agora sei que sou eu, e não apenas um velho rosto que vai a passar.
Ela não respondeu. Mas senti uma gota tombar-me na bochecha. Louise estava a chorar. Comecei a chorar também. Ela continuou a cortar-me o cabelo. Chorámos os dois, em silêncio, ela atrás da cadeira, com a tesoura, eu sentado com uma toalha à volta do pescoço. Depois nunca dissemos uma palavra a esse respeito, talvez por nos sentirmos embaraçados; ou talvez porque não era necessário.
276
Esse é um traço que partilho com a minha filha. Não falamos desnecessariamente. As pessoas que vivem em ilhotas pequenas raramente são ruidosas ou loquazes. O horizonte é demasiado
grande para isso.
Um dia, Louise atou uma fita de seda vermelha ao pescoço de Carta. A cadela não pareceu gostar muito do adorno, mas não tentou tirá-lo.
Na noite anterior ao solstício de inverno, fiquei sentado na cozinha até tarde, folheando o meu diário. Depois escrevi uma anotação:
"Mar calmo, sem vento, um grau negativo. Carra usa uma fita vermelha. Louise e eu somos muito chegados."
Pensei em Harriet. Era como se estivesse atrás de mim, a ler as minhas palavras.
277
CAPÍTULO 4
Louise e eu resolvemos festejar o facto de os dias irem começar a tornar-se mais longos. Louise encarregar-se-ia dos cozinhados. A tarde tomei os meus medicamentos, depois estendi-me no sofá da cozinha, a descansar.
Havia meio ano que tínhamos estado todos sentados juntos, na breve escuridão da noite de solstício de verão. Esta noite, quando assinalássemos a passagem do solstício de inverno, Harriet não estaria connosco. Sentia a falta dela como nunca sentira antes. Embora tivesse morrido, parecia estar mais perto de mim do que nunca.
Fiquei muito tempo no sofá, antes de me obrigar a levantar para me barbear e mudar de roupa. Vesti um fato que quase nunca usara. Apesar da falta de treino, consegui dar o nó da gravata. O rosto que vi no espelho aterrorizou-me. Estava velho. Fiz uma careta e desci à cozinha. Começava a escurecer, antecipando a que seria a noite mais comprida do ano. O termómetro marcava dois graus negativos. Peguei num cobertor e sentei-me no banco por baixo da macieira. O ar estava fresco, gelado, invulgarmente salgado. Ao longe ouviam-se os gritos das aves; cada vez menos, cada vez com menos frequência.
Devo ter adormecido no banco. Quando acordei, estava um negrume de breu. Tinha frio. Eram seis horas. Estivera a dormir quase duas horas. Louise estava diante do fogão quando entrei. Sorriu.
- Estavas a dormir como uma senhora de idade - disse ela. - Não quis acordar-te.
- Sou uma senhora de idade - retorqui. - A minha avó costumava sentar-se naquele banco. Estava sempre gelada, exceto
278
quando sonhava com os murmúrios suaves das bétulas. Creio que talvez esteja a transformar-me nela.
Estava calor na cozinha. A placa e o forno estavam acesos. As janelas embaciadas.
Perfumes estranhos e maravilhosos começaram a encher a casa. Louise estendeu-me uma colher para provar o conteúdo de uma caçarola fumegante.
De algum modo, o sabor fazia lembrar madeira antiga aquecida pelo sol. Doce, mas ácido, com um toque amargo. Exótico, sedutor.
- Misturo diferentes mundos nos meus estufados - explicou Louise. - Quando comemos, visitamos pessoas em regiões do mundo onde nunca estivemos. Os cheiros são as nossas recordações mais antigas. A lenha com que os nossos antepassados faziam as suas fogueiras, quando se abrigavam em cavernas e pintavam aqueles animais sedentos de sangue nas paredes, devia cheirar tal e qual como a lenha de hoje. Não sabemos o que eles pensavam, mas sabemos ao que cheirava a sua lenha.
- Há sempre algo de constante nas coisas que mudam - repliquei. - Há sempre uma senhora de idade com frio, sentada num banco debaixo de uma macieira.
Louise trauteava enquanto preparava a refeição.
- Viajas pelo mundo sozinha - observei. - Mas na floresta estás rodeada de homens.
- Há lá muitos tipos simpáticos. Mas não é assim tão fácil arranjar um homem a sério.
Fiz menção de continuar, mas ela levantou a mão em sinal de aviso.
- Agora não, nem depois, nem nunca. Se alguma vez tiver algo a dizer-te, assim farei. Claro que há homens na minha vida. Mas são assunto meu, não teu. Não creio que devamos partilhar tudo. Se cavarmos demasiado profundamente nos outros, arriscamo-nos a destruir uma bela amizade.
Estendi-lhe algumas pegas para os tachos. Estavam na cozinha desde sempre; lembro-me de as ver lá quando era criança. Ela tirou uma caçarola grande do forno e levantou a tampa. Exalava um cheiro intenso a pimenta e limão.
279
- Isto deve queimar-te a garganta. Nenhum prato está devidamente cozinhado se não te fizer transpirar quando o comes. A comida sem segredos enche-te a barriga de desilusão.
Fiquei a vê-la mexer a panela, misturar o conteúdo.
- As mulheres mexem - disse ela. - Os homens batem, cortam, rasgam e apunhalam. As mulheres mexem, mexem e remexem.
Fui dar um passeio antes de jantar. Quando cheguei ao pontão, senti a dor queimar-me o peito. Doía tanto que quase caí, enrolado numa bola.
Gritei por Louise. Quando ela chegou ao pé de mim, julgava que ia desmaiar. Ela acocorou-se à minha frente.
- Que se passa?
- O meu coração. Espasmos vasculares.
- Vais morrer?
Rugi, através da minha dor:
- Não, não vou morrer. Há um frasco de comprimidos azuis ao lado da minha cama.
Louise afastou-se a correr. Quando voltou, deu-me um comprimido e um copo de água. Peguei-lhe na mão. Por fim, a dor abrandou. Estava encharcado em suor e tremia da cabeça aos pés.
- Passou?
- Sim, passou. Não é perigoso. Mas é doloroso.
- Talvez seja melhor ires para a cama.
- Nem pensar nisso. Voltámos lentamente para casa.
- Vai buscar umas almofadas ao sofá da cozinha - pedi. - Podemos sentar-nos um bocadinho aqui fora, nos degraus.
Ela trouxe as almofadas. Sentámo-nos muito juntos e ela pousou-me a cabeça no ombro.
- Não quero que morras. Não aguentava ver o meu pai e a minha mãe morrer tão depressa, um atrás do outro.
- Não vou morrer.
- Pensa em Agnes e nas miúdas dela.
- Não sei se isso se concretizará.
- Elas virão.
280
Apertei a mão dela. O meu coração acalmara de novo. Mas a dor rondava ao fundo. Tinha recebido o segundo aviso. Ainda podia viver uns bons anos. Mas o fim acabaria por chegar, mesmo para mim. O nosso jantar de festa terminou cedo. Comemos, mas não ficámos sentados à mesa. Fui para o meu quarto e levei o telefone comigo. Havia uma tomada no meu quarto, que normalmente não usava. O meu avô tinha-a mandado pôr lá no fim da sua vida, quando ele e a minha avó haviam começado a ficar doentes. Queria ter a possibilidade de telefonar a alguém, se um ou outro dos dois ficasse tão frágil que as escadas para o piso inferior se transformassem num obstáculo demasiado longo e íngreme. Perguntei-me se deveria telefonar, mas não consegui decidir-me. Por fim, por volta da uma da manhã, marquei o número, apesar do adiantado da hora. Ela atendeu quase imediatamente.
- Peço desculpa por te acordar.
- Não me acordaste.
- Só quero saber se já tomaste uma decisão.
- Já discuti o assunto com as raparigas. Elas gritam que não assim que ouvem a palavra ilha. Não conseguem imaginar viver sem estradas, asfalto ou carros. Têm medo.
- Terão de escolher entre ti e o asfalto.
- Creio que sou mais importante.
- Isso significa que vêm?
- Não vou responder a isso a esta hora da noite.
- Posso pensar o que julgo poder pensar?
- Podes. Mas temos de parar agora. É tarde.
Ouviu-se um clique e a chamada foi cortada. Estiquei-me na cama. Ela não dissera positivamente que sim, mas começava a aperceber-me de que afinal sempre viria.
Fiquei acordado, na cama, durante muito tempo. Há um ano, estendia-me na cama a pensar que nunca mais aconteceria nada. Agora tinha uma filha e angina de peito. A vida tomara um rumo novo.
Eram sete da manhã quando acordei. Louise já estava a pé. - Tenho de ir à floresta por uns tempos - disse ela. - Mas será que posso deixar-te sozinho? Podes garantir-me que não vais morrer?
281
- Quando voltarás? - perguntei. - Se não estiveres fora demasiado tempo, aguentar-me-ei.
- Volto na primavera. Mas não vou passar todo o tempo na floresta. Há outro sítio onde tenho de ir.
- Onde?
- Conheci um homem depois de ser libertada pela polícia. Queria falar acerca das grutas e das pinturas atacadas pelo bolor. Acabámos a falar de outras coisas também.
Tinha vontade de lhe perguntar quem ele era, mas ela levou o dedo aos lábios.
- Agora não.
No dia seguinte, Jansson veio buscá-la.
- Bebo imensa água - bradou ele, quando o barco já se afastava do pontão. - Mas estou sempre cheio de sede.
- Podemos falar disso mais tarde - bradei em resposta.
Voltei para casa e peguei nos binóculos. Observei-os até o barco desaparecer no nevoeiro, atrás de Hõga Siskáret. Agora era só eu e a cadela. A minha amiga Cana.
- Vai ficar tudo tão sossegado como é sempre - disse eu ao animal. - Pelo menos por uns tempos. Depois construiremos uma nova casa. E haverá raparigas a tocar música demasiado alto, a gritar e a praguejar, e, por vezes, odiarão esta ilha. Mas vêm para cá e teremos de as aturar. Vem aí uma manada de cavalos selvagens.
Carra ainda tinha a fita vermelha. Desatei-a e deixei que o vento a levasse.
Nessa noite, sentei-me à frente da televisão com o som desligado. Escutei o meu coração.
Tinha o diário na mão. Anotei que o solstício de inverno já passara.
Depois levantei-me, arrumei o diário e fui buscar um novo.
No dia seguinte escreveria algo completamente diferente. Talvez uma carta a Harriet, embora já fosse demasiado tarde para a enviar.
282
CAPÍTULO 5
O mar do arquipélago não gelou naquele inverno. Formou-se gelo muito espesso no continente, bem como nas baías abrigadas e nos regatos das ilhas, mas os canais que levavam ao mar aberto continuaram navegáveis. Em finais de fevereiro houve um período de frio extremo e ventos persistentes do norte, mas Jansson nunca foi obrigado
a utilizar o seu hidrocóptero e eu não tive de tapar os ouvidos com as mãos nos dias de correio.
Um dia, mal o frio extremo deu lugar a um tempo mais ameno, aconteceu uma coisa que nunca esquecerei. Tinha acabado de abrir a fina camada de gelo que cobria a minha cova do banho e estava na água, quando reparei que a cadela estava no pontão, a roer algo que parecia proveniente do esqueleto de um pássaro. Como os ossos podem ferir a garganta dos cães, fui ter com ela e tirei-lho. Atirei-o para as algas geladas e levei a cadela para casa comigo.
Só mais tarde, depois de me vestir e estar novamente quente, é que me lembrei do osso. Ainda não sei o que me levou a fazê-lo, mas calcei as botas, fui ao pontão e procurei o bocado de osso. Não pertencia a pássaro nenhum, isso era certo. Sentei-me no pontão e examinei-o atentamente. Seria de um vison ou de uma lebre? Então compreendi o que era. Não podia ser outra coisa. Era um osso da minha gata. Depu-lo no pontão, aos meus pés, e perguntei-me como a cadela teria conseguido encontrá-lo. Sentia-me frio e triste por dentro, pela maneira como a minha gata acabara por reaparecer. Levei a cadela a passear em torno da ilha. Não havia sinais de mais ossos, nenhum rasto. Apenas aquele pequeno fragmento
283
de osso, como se a gata me tivesse mandado um recado, para me garantir que já não precisava de procurar mais. Estava morta e já o estava há muito.
Escrevi acerca do osso no meu diário. Apenas três palavras.
"Cadela, osso, tristeza."
Enterrei o fragmento de osso ao lado das sepulturas de Harriet e do meu velho cão. Era dia de correio, pelo que fui ao pontão. Jansson chegou à hora certa, como de costume. Deslizou para o pontão e anunciou que se sentia muito cansado e estava permanentemente com sede. Começara a ter cãibras na barriga das pernas durante a noite.
- Pode ser diabetes - disse-lhe eu. - Os sintomas sugerem essa possibilidade. Não posso examiná-lo aqui, mas devia ir ao centro de saúde.
- É fatal? - inquiriu ele, com uma expressão preocupada.
- Não necessariamente. Pode ser tratado.
Não pude deixar de me sentir um bocadinho satisfeito por Jansson, que sempre fora são como um pêro, ter revelado a primeira fenda na sua armadura e estar no mesmo barco que o resto de nós.
Ele refletiu um instante acerca do que lhe dissera, depois inclinou-se e pegou num volumoso pacote que estava no convés. Estendeu-mo.
- Mas não encomendei nada!
- Não sei nada a esse respeito. Mas está endereçado a si. E é pré-pago, portanto não há portes a desembolsar.
Peguei no pacote. O meu nome estava claramente escrito, em letras belamente traçadas. Não havia indicação do remetente.
Jansson afastou-se do pontão. Mesmo que tivesse de facto diabetes, ainda viveria muitos anos. Sobreviver-me-ia certamente a mim e ao meu coração fraco.
Sentei-me na cozinha e abri o pacote. Continha um par de sapatos pretos, com um laivo de violeta. Giaconelli incluíra também um cartão, no qual escrevera que lhe dera grande prazer demonstrar o seu grande respeito pelos meus pés.
Calcei umas peúgas lavadas, depois os sapatos e caminhei à volta da cozinha. Os sapatos ficavam tão bem como ele prometera.
284
A cadela estava estendida na soleira, a observar-me com interesse. Fui à outra sala e mostrei os meus sapatos novos às formigas.
Não me lembrava da última vez que me sentira tão feliz.
Durante o resto do inverno, todos os dias percorria a cozinha diversas vezes com os sapatos de Giaconelli. Nunca os usei fora de casa e guardava-os sempre na sua caixa.
A primavera chegou no princípio de abril. Ainda havia um pouco de gelo na minha enseada, mas não tardaria a derreter. Uma manhã, bem cedo, comecei a remover o formigueiro.
Estava na altura de o fazer. Não podia esperar mais. Servi-me da pá para o retirar aos poucos, colocando-o cuidadosamente no carrinho de mão.
De súbito, a pá bateu num objeto sólido. Quando afastei as agulhas de coníferas e as formigas, vi que era uma das garrafas vazias de Harriet. Havia algo lá dentro. Tirei a rolha e encontrei uma fotografia enrolada de Harriet e minha, tirada pouco antes de a ter abandonado, quando éramos novos.
Havia água ao fundo. Podíamos estar em Riddarfjärden, em Estocolmo. Uma brisa despenteava os cabelos de Harriet. Eu sorria diretamente para a câmara. Lembrei-me
que tínhamos pedido a um desconhecido que ia a passar que nos tirasse a fotografia.
Virei-a. Harriet desenhara um mapa na parte de trás. Era da minha ilha. Por baixo escrevera: "Chegámos até aqui."
Fiquei sentado na cozinha por muito tempo, a olhar para a fotografia.
Depois continuei a transportar as formigas para a sua nova vida. A noite estava tudo pronto. O formigueiro fora mudado.
Caminhei em torno da ilha. Bandos de aves migratórias voavam sobre o mar.
Era tal como Harriet escrevera. Tínhamos chegado até aqui.
Não mais longe do que isso. Mas até aqui.
Henning Mankell
O melhor da literatura para todos os gostos e idades














