



Biblio VT




Terceiro romance de William Faulkner, publicado em 1929, pouco antes de O Som e a Fúria, Sartoris é o primeiro situado no condado fictício de Yoknapatawpha, no Mississippi.
William Faulkner (1897-1962), prêmio Nobel de Literatura, narra a trajetória de uma família decadente, de passado escravocrata, que vive à sombra do Coronel John Sartoris, morto na Guerra ds Secessão.
Tia Jenny, a irmã mais nova do coronel, verdadeira guardiã do passado e também da narrativa, é a mulher que alinhava, com sua memória reiterada e reinventada, as tragédias das gerações (passadas e futuras) de homens da família
— Bayard Velho, filho do coronel, e os dois netos gêmeos, também John e Bayard. Tia Jenny amaldiçoa essa família, mas conta sua história tantas vezes que a transforma em mito.
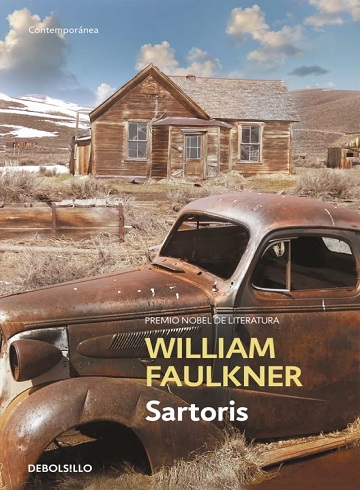
1.
Como sempre, o velho Falls viera com John Sartoris, caminhara os cinco
quilômetros desde o asilo do condado, trazendo consigo, como um odor, como o
cheiro limpo e seco de seu macacão desbotado, o espectro do morto para dentro
daquela sala em que estava sentado o filho do morto, e onde os dois, o indigente
e o banqueiro, ficariam sentados por meia hora na companhia daquele que fora
além da morte e retornara.
Liberta do tempo e da carne, a presença dele era agora bem mais palpável
que a de qualquer dos dois velhos que se encontravam regularmente para berrar
em seus ouvidos surdos enquanto as atividades do banco prosseguiam na sala ao
lado e as pessoas nas lojas vizinhas de ambos os lados ouviam o tumulto
indistinto de suas vozes através das paredes. Era bem mais palpável do que os
dois velhos atados pela surdez comum a uma época morta e assim esgarçados
pela lenta usura dos dias; e mesmo agora que o velho Falls saíra para palmilhar
os cinco quilômetros de volta ao que chamava de lar, John Sartoris ainda parecia
pairar na sala, acima e ao redor do filho, com seu rosto barbado e anguloso, a tal
ponto que, ao se sentar com os pés cruzados e apoiados na borda da lareira fria, o
cachimbo na mão, o Bayard Velho chegou a achar que ouvia a respiração do pai,
como se este fosse muito mais substancial do que a mera argila passageiramente
moldada, e capaz de penetrar até o mais recôndito baluarte de silêncio em que se
refugiava o filho.
Entalhado com primor, o fornilho estava chamuscado de tanto uso, e a piteira
trazia as marcas dos dentes do pai, ali onde este deixara a impressão mesma de
seus ossos inerradicáveis, como se em rocha perene, tal como aquelas criaturas
de uma época pré-histórica, concebidas e executadas com demasiada majestade,
seja para perdurarem muito, seja para, uma vez mortas, desaparecerem por
completo da terra moldada e guarnecida para coisas mais mesquinhas.
O Bayard Velho estava sentado, segurando na mão o cachimbo.
“Por que está me dando isto depois de tanto tempo?”, havia perguntado.
“Ora, acho que guardei pelo tempo que o coroné esperava que eu guardasse”,
respondeu o velho Falls. “Um asilo não é lugar pruma coisa dele, Bayard. E já tô
beirando os noventa e quatro.”
Mais tarde, ele juntou seus trastes e partiu, mas o Bayard Velho ainda
permaneceu sentado, o cachimbo na mão, esfregando lentamente o fornilho com
o polegar. E pouco depois John Sartoris também se retirou, recolhendo-se àquele
lugar onde os mortos apaziguados contemplam suas idealizadas frustrações, e o
Bayard Velho se ergueu, meteu o cachimbo no bolso e tirou um charuto do
umidor sobre o consolo da lareira. Enquanto acendia o fósforo, a porta no outro
lado da sala se abriu e um homem de viseira verde entrou e se aproximou.
“Simon chegou, coronel”, anunciou sem alterar a voz.
“O quê?”, perguntou o Bayard Velho detrás do fósforo.
“Simon está aí.”
“Ah! Está certo.”
O outro deu-lhe as costas e saiu. O Bayard Velho atirou o fósforo na grelha,
guardou o charuto no bolso, fechou o tampo da mesa, pegou o chapéu preto de
feltro que ali estava e também deixou a sala. O homem de viseira e o caixa
estavam ocupados atrás da grade no balcão. O Bayard Velho atravessou
empertigado o salão, passou pela porta com sua cortina verde abaixada e saiu à
rua, onde Simon, envergando um guarda-pó de linho e uma cartola antiquada,
segurava no meio-fio a parelha de animais castrados que reluziam na tarde de
primavera. Ali havia um poste para amarrar os cavalos, preservado pelo Bayard
Velho com teimoso desprezo pelo progresso industrial, mas Simon jamais o
usava. Até que a porta se abrisse e Bayard emergisse das cortinas abaixadas que
exibiam as palavras “Banco Fechado” em fraturadas letras douradas, Simon
permanecia a postos, com as rédeas na mão esquerda e o cabo do chicote
empunhado elegantemente na direita, equilibrando como de hábito o invariável e
aparentemente incombustível fragmento de charuto em um ângulo atrevido com
o seu rosto negro, enquanto mantinha uma ininterrupta e amorosa conversa com
a parelha luzidia.
Ele mimava os cavalos. Admirava os Sartoris e por eles sentia uma ternura
calorosa e protetora, mas amava mesmo eram os cavalos e em suas mãos o
animal mais decrépito desabrochava e adquiria a mesma formosura de uma
mulher acariciada, assim como um temperamento de diva de ópera.
O Bayard Velho fechou a porta atrás de si e caminhou até a carruagem com
aquele porte ereto rígido que, como certa vez comentou um conterrâneo,
conseguiria manter durante a queda, se por acaso tropeçasse. Um ou dois
transeuntes e um ou outro comerciante nas portas adjacentes o saudaram com
uma espécie de subserviência elaborada.
Tampouco aí Simon desmontou. Com a refinada sensibilidade de sua raça
para um drama em potencial, ele se empertigou e ajeitou as dobras flácidas do
guarda-pó, de algum modo transmitindo o ímpeto histriônico aos cavalos, que
também passaram a sacudir os pelames brilhantes e a volver as cabeças
atreladas, e no velho e encarquilhado semblante de Simon aflorou uma expressão
de indescritível majestade ao tocar a aba do chapéu com o cabo do chicote.
Bayard entrou na carruagem e Simon estalou a língua para os cavalos, e os
espectadores, transidos de admiração pelo momentâneo drama da partida,
ficaram para trás.
Havia algo diferente na expressão de Simon, no formato mesmo de suas
costas e na inclinação do chapéu; parecia prestes a explodir com algo grave e
malcontido. Mas conseguiu se refrear e, impondo uma andadura vigorosa mas
controlada, passou por entre as carruagens amarradas na praça e entrou por uma
rua larga onde aqueles que Bayard chamava de indigentes apressavam-se de um
lado para o outro em seus automóveis; refreou-se até que deixassem para trás a
cidade e estivessem trotando pelos campos florescentes, o caminho ainda
atulhado de indigentes movidos a gasolina, mas agora a intervalos maiores, e que
seu patrão tivesse se acomodado para desfrutar a variada e calma monotonia dos
seis quilômetros do percurso. Então Simon restringiu a parelha a um passo mais
calmo e volveu a cabeça.
Sua voz não era particularmente robusta ou ressonante, mas por algum
motivo não tinha dificuldade para se fazer entender pelo Bayard Velho. Os
outros precisavam gritar para transpor aquela muralha de surdez no interior da
qual ele vivia, mas Simon podia e mantinha longas e desconexas conversas com
o velho naquela sua cantilena monótona e um tanto aguda, sobretudo quando
estavam na carruagem, cujo sacolejo ajudava Bayard a ouvir um pouco melhor.
“Nhô Bayard tá de volta”, comentou Simon em tom coloquial.
O Bayard Velho ficou sentado, perfeita e furiosamente imóvel por um átimo,
enquanto seu coração disparava, um pouco rápido e leve demais, maldizendo o
neto em um instante de fúria; ficou tão imóvel que Simon virou-se e o
surpreendeu com o olhar pousado nos campos ao longe. Simon elevou um pouco
o tom da voz.
“Chegou no trem das duas”, continuou. “Saltou pelo outro lado e se meteu
no mato. Um empregado da ferrovia viu ele. Mas não tinha chegado em casa
quando saí. Achei que tivesse com o sinhô.”
A poeira se agitava sob os cascos dos cavalos e formava atrás uma nuvem
preguiçosa. Destacando-se nas cercas vivas cada vez mais densas, a sombra
deles corria em surtos espasmódicos, com raios de rodas tremeluzentes e
passadas alongadas, movendo-se em vão e sem avançar.
“Nem mesmo desceu na estação”, prosseguiu Simon, com uma espécie de
exasperação aflita, “a estação construída por seus próprio parente. Saltou do
outro lado como um vagabundo. E nem tava de roupa de soldado. Só com um
paletó, como um caixeiro ou algo assim. E quando lembro daquelas bota
brilhante e a calça amarela e aquele cinturão duplo que tinha quando veio pra
casa ano passado...”
Olhou de novo para trás. “Coroné, será que esse pessoal lá de fora fez mal
pra ele?”
“O que você quer dizer?”, perguntou Bayard. “Ele estava mancando?”
“Sei não, chegar assim de fininho na própria cidade. Descer na moita na
própria ferrovia que o vô dele construiu, como um zé-ninguém. Aquele pessoal
de fora fez algo pra ele ou então botaram a polícia trás dele. Sempre disse pra
ele, quando foi da outra vez pra guerra, que o nhô Johnny num tinha nada que se
meter lá...”
“Toca pra frente!”, disse Bayard. “Toca pra frente, maldito traste preto e
velho.”
Simon estalou a língua para os cavalos e os incitou a um passo mais
animado. O caminho seguia por entre cercas vivas, paralelamente às espantosas
momices de suas sombras. Mais além dos eucaliptos, das robínias e das massas
de trepadeiras, os campos recém-abertos ou sendo abertos estendiam-se em
direção a manchas de mata verdejantes de novo e entremeadas de cornisos e
olaias. Adiante dos arados laboriosos, torrões viscosos de terra revirada reluziam
úmidos ao sol.
Essa era a região de terras altas, encostas inclinadas que se destacavam no
azul contínuo dos morros, mas logo o caminho descia abrupto até um vale de
campos amplos e férteis, esplendidamente sonolentos na tarde calmosa, e em
seguida adentrava as terras do próprio Bayard e, de tempos em tempos, um
lavrador acenava para a carruagem em movimento. Depois a estrada acercou-se
dos trilhos da ferrovia e os atravessou, e por fim a casa erguida por John Sartoris
surgiu entre as robínias e os carvalhos, e Simon cruzou o portão de ferro e seguiu
pelo caminho de acesso em curva.
Junto a um canteiro de sálvia, um dia, muito tempo antes, havia estacado
uma patrulha ianque. Simon parou a carruagem ali com um floreio e Bayard
desceu, e Simon voltou a estalar a língua para a parelha, rolou o charuto para um
ângulo mais descontraído e tomou a estrada de volta para a cidade.
Bayard ficou parado diante de sua casa. A alva simplicidade dela sonhava
tranquila em meio às antigas árvores trespassadas pelos raios do sol. A glicínia
que trepava por um dos lados da varanda havia florescido e caído, e uma débil
nuvem em pétalas destroçadas dispersava-se palidamente ao redor de suas raízes
escuras e das raízes de uma roseira presa à mesma armação. Lenta mas
constantemente, a roseira sufocava as outras trepadeiras. Agora florescia
densamente com botões tão pequenos quanto dedais, exibindo flores abertas não
maiores do que dólares de prata, uma miríade delas, sem perfume e imprestáveis
para serem colhidas.
Mas a própria casa estava calma e serenamente benigna, e ele subiu à
varanda deserta com colunas, atravessou-a e entrou no vestíbulo.
A casa estava em silêncio, profundamente desprovida de movimentos ou
sons. Ele parou no meio do vestíbulo.
“Bayard.”
Com seus balaústres brancos e passadeira vermelha, a alta e esguia curva da
escada conduzia até as sombras no andar de cima. Do centro do teto pendia um
candelabro com pingentes e anteparos de cristal, antes usado com velas mas
agora adaptado para lâmpadas elétricas. À direita da entrada, junto às portas
sanfonadas que davam para uma sala escura de onde emanava uma atmosfera de
majestade solene e raramente perturbada, um grande espelho repleto de grave
obscuridade era como uma poça imóvel de água noturna. No lado oposto do
saguão, uma trama de raios de sol recaía inclinada através da porta, e de um
ponto além da faixa de sol uma voz elevou-se e caiu em um tom menor de firme
preocupação, como um canto. Não se distinguiam as palavras, mas Bayard não
poderia ouvi-las de qualquer modo. Ele ergueu a voz de novo.
“Jenny.”
O canto cessou e, enquanto se voltava para a escada, uma mulata alta
apareceu sob os raios inclinados de sol na porta de trás e entrou sibilante na casa.
Seu vestido azul desbotado estava erguido e preso com alfinetes na altura dos
joelhos, e viam-se nele manchas escuras e irregulares de umidade. Embaixo, as
canelas eram retas e magras como as de uma ave pernalta, e os pés descalços
mais pareciam manchas de café com leite sobre o escuro piso polido.
“Sinhô tava chamando, coroné?”, disse ela, alçando a voz para transpor a
surdez do velho. Bayard parou com a mão apoiada no balaústre de nogueira e
contemplou do alto o rosto agradável e amarelado da mulher.
“Veio alguém aqui de tarde?”, perguntou.
“Não, sinhô, por quê?”, respondeu Elnora. “Veio ninguém, não, isso posso
dizer. Nhá Jenny cabou de ir pro clube na cidade”, acrescentou.
Bayard continuou com um pé apoiado no degrau de cima, o olhar brilhante e
fixo.
“Que diabos! Por que vocês negros nunca falam a verdade?”, explodiu de
repente. “Então é melhor que não me digam nada!”
“Deus do céu, coroné, quem é que vinha aqui, se o sinhô e a nhá Jenny não
tivesse chamado?” Mas ele já estava galgando os degraus, batendo furiosamente
os pés. A mulher o fitou e então ergueu a voz: “O sinhô quer o Isom ou outra
coisa?” Ele não se voltou. Talvez não a tivesse ouvido, e ela ficou parada
enquanto o via sumir. “Tá ficando gagá”, murmurou e, virando-se com os
sibilantes pés descalços no vestíbulo, voltou para o lugar de onde tinha saído.
Bayard parou de novo ao chegar ao vestíbulo de cima. As janelas voltadas
para o Oeste estavam fechadas com persianas de treliça, através das quais se
infiltravam os raios de sol em faixas amareladas que se dissolviam e só faziam
acentuar a escuridão. No outro lado, uma porta alta dava para a estreita varanda
com grade de onde se descortinavam o panorama do vale e, a Leste, o
semicírculo acolhedor das colinas. Ladeando a porta, janelas estreitas exibiam
vitrais multicoloridos que, juntamente com a portadora, constituíam o legado
que, no leito de morte, a mãe de John Sartoris lhe deixara, e que sua irmã mais
nova trouxera da Carolina em uma canastra cheia de palha no ano de 1869.
Virginia Du Pre ali chegou com trinta anos de idade, após dois anos de
casada e sete de viuvez — uma mulher esbelta com uma delicada réplica do
nariz dos Sartoris e aquela indômita e absoluta expressão de enfado que toda
sulina aprendera a exibir, trazendo apenas a roupa do corpo e a canastra de vime
repleta de vidros coloridos. Foi ela quem lhes contou como Bayard Sartoris
havia morrido, antes da segunda batalha de Manassas. Desde então repetira a
história inúmeras vezes (e com oitenta anos continuava a fazer isso, em geral nas
ocasiões menos oportunas), e à medida que envelhecia, a própria história
tornava-se cada vez mais complexa, adquirindo um esplendor brando como o do
vinho envelhecido; e isto foi se agravando até que a temerária travessura de dois
rapazes insensatos e inconsequentes, inebriados da própria juventude, tornara-se
um ponto focal galante e requintadamente trágico ao qual a história da raça fora
alçada desde os velhos pântanos miasmáticos da indolência espiritual por dois
anjos valorosamente caídos e extraviados, alterando o curso dos acontecimentos
humanos e depurando a alma dos homens.
Esse Bayard da Carolina revelara-se excessivo até mesmo para os Sartoris.
Não por ser uma ovelha negra, mas antes um estorvo, cujas qualidades eram
todas positivas e imprevisíveis. Dele eram os olhos azuis risonhos e os cabelos
compridos com cachos trigueiros que recobriam as têmporas. Com a tez
afogueada, o rosto estampava a mesma expressão de estupidez franca e corajosa
que se imagina no semblante de Ricardo Coração de Leão prestes a seguir para a
Cruzada. Certa vez arremeteu com sua matilha de sabujos por entre um rústico
tabernáculo que servia de local para uma revivescência metodista; meia hora
depois (após alcançar a raposa), ali retornou sozinho e passou montado em seu
cavalo entre o grupo tomado de indignação. Tão somente em espírito de pura
diversão: acreditava com demasiada firmeza na Providência, como
demonstravam com clareza todos os seus atos, para que pudesse ter qualquer
convicção religiosa. Por isso, quando o forte Moultrie caiu e o governador
recusou-se a entregá-lo, os Sartoris foram invadidos por discreto contentamento,
pois agora Bayard teria algo com que se ocupar.
Na Virgínia, como ajudante de ordens de Jeb Stuart, não lhe faltou o que
fazer. Sobretudo como ajudante-de-ordens, pois ainda que Stuart contasse
numerosa família militar, eram todos soldados tentando ganhar uma guerra e
precisando de sono ocasionalmente: Bayard Sartoris era o único disposto, e até
ansioso, para adiar o sono até uma época em que a monotonia tivesse retornado
ao mundo. Mas aquilo, para ele, era um feriado.
A guerra também foi uma dádiva para Jeb Stuart, e logo em seguida, na
sombria e sangrenta obscuridade das campanhas na Virgínia setentrional, ele
com trinta anos e Bayard Sartoris com vinte e três destacaram-se por breve
período como duas estrelas flamejantes, coroados com os viçosos louros da
Fama e com as murtas e rosas da Morte, imprevisíveis e repentinos como
meteoros no turvo firmamento militar do general Pope; impondo-lhe, como
relutante traje, aquele renome que sua capacidade como soldado jamais lhe teria
conquistado. E ainda em espírito de pura diversão: tanto Jeb Stuart como Bayard
Sartoris, e os atos deles o demonstram com clareza, não eram movidos por
absolutamente nenhuma convicção política.
A tia Jenny contou a história pela primeira vez assim que veio morar com
eles. Era época de Natal e estavam todos sentados diante do fogo de nogueira
que crepitava na lareira da biblioteca reconstruída — a tia Jenny com expressão
triste e decidida, e John Sartoris com barba e traços de falcão, assim como as três
crianças e um hóspede, um engenheiro escocês que John Sartoris conhecera no
México em 1845 e que o ajudava na construção da ferrovia.
As obras na estrada de ferro haviam sido interrompidas no período das férias,
e John Sartoris e o engenheiro tinham cavalgado no crepúsculo desde o canteiro
de obras nas colinas ao Norte, e agora ali estavam, após o jantar, acomodados
diante da lareira. O sol se pusera avermelhado, a geada deixava o ar quebradiço
como vidro fino e nesse instante Joby trouxe outra braçada de lenha para
queimar. Quando juntou uma tora ao fogo, as chamas estalaram e saltaram no ar
seco, lançando brasas agonizantes para fora da lareira.
“É Natal!”, exclamou Joby, com o grave e simples deleite de sua raça,
empurrando as toras incandescentes com o cano de mosquete ianque que ficava
no canto da chaminé até que as fagulhas se elevassem em redemoinho pelo
escuro ventre da chaminé em revoltos véus dourados. “Cês viram isso,
crianças?” A filha mais velha de John Sartoris tinha vinte e dois anos e se casaria
em junho, Bayard estava com vinte e a mais nova, com dezessete; e mesmo a tia
Jenny, a despeito de toda a sua viuvez, também continuava sendo criança para
Joby.
Em seguida, devolveu o cano de mosquete ao nicho e aproximou do fogo
uma comprida lasca de pinho a fim de acender as velas. Mas, a tia Jenny o
impediu, e ele deixou a sala — uma figura trôpega em uma velha casaca formal,
grande demais para o seu corpo encurvado e grisalho de velhice; e então a tia
Jenny, sempre referindo-se a Jeb Stuart como o senhor Stuart, pôs-se a contar a
história.
Tinha algo a ver com um anoitecer em abril, e também com café.
Ou melhor, com a falta de café; e a família militar de Stuart estava reunida na
escuridão perfumada, sob a lua nova, conversando sobre damas e prazeres
passados, pensando em casa. Ao longe na escuridão os cavalos moviam-se
invisíveis, com ruídos repousantes, as fogueiras do bivaque reduziam-se a pontos
incandescentes como vaga-lumes exaustos, e em algum lugar, nem longe nem
perto, o ordenança do general tocava ao acaso acordes prolongados em um
violão. Assim estavam aninhados na pungência da primavera e na tristeza
imemorial da juventude, esquecidos das lides e da glória, e recordando, em vez
disso, outros anoiteceres na Virgínia, com violinos entre miríades de velas e
elegantes e sérias mesuras reciprocadas com riso ligeiro e pés ainda mais
ligeiros, imaginando “Quando verei isto de novo? Terei tal ventura?” — até
serem levados pela conversa a um estado de turbulenta nostalgia e as palavras
irem se tornando cada vez mais breves e escassas. Então o general ergueu-se e
trouxe-os de volta ao mencionar o café, ou melhor, a falta dele.
Essa conversa de café começou a morrer em seguida com uma cavalgada por
trilhas noturnas e depois por matas escuras como breu, onde os cavalos
avançavam passo a passo e os cavaleiros estendiam os sabres e os mosquetes
para não serem arrancados das selas por galhos invisíveis, e assim continuaram
até que a floresta se tornou mais rala com os espectros da alvorada e um grupo
de vinte cavaleiros viu que já estava bem atrás das linhas federais. Depois o
alvorecer acentuou-se ainda mais e, pondo de lado todo empenho de
dissimulação, eles retomaram o galope e toparam com atônitos grupos de piquete
retornando calmamente a seus acampamentos, e pelotões de trabalho partindo
com picaretas, machados e pás à luz dourada da manhã, e investiram aos gritos
contra o outeiro onde o general Pope e seu estado-maior faziam o desjejum al
fresco.
Dois homens capturaram um gordo major. Os outros perseguiram
brevemente os oficiais em fuga até o refúgio no mato fechado, mas a maioria
acorrera para a barraca com a despensa particular do general, de onde emergiam
agora sobraçando os despojos após a devastação ciclônica. Stuart e os três
oficiais que o acompanhavam frearam suas montarias bailarinas junto às mesas,
um deles agarrou um enorme e enegrecido bule de café e o ofereceu ao general,
e, enquanto o inimigo gritava e disparava mosquetes das árvores, brindaram uns
aos outros com o escaldante café amargo e sem leite, como se fosse uma taça da
amizade.
“Ao general Pope, senhor”, exclamou Stuart, saudando o oficial capturado.
E, após beber, estendeu o bule de café.
“Vou aceitar, senhor”, replicou o major. “E graças a Deus ele não está aqui
para responder em pessoa.”
“Notei que ele parecia estar com pressa”, comentou Stuart. “Algum
compromisso urgente, talvez?”
“Exatamente, senhor. Com o general Halleck”, assentiu secamente o major.
“Lamento que o tenhamos como adversário em vez de Lee.”
“Também lamento, senhor”, respondeu Stuart. “Aprecio o general Pope em
uma refrega.” Toques de clarim soavam entre árvores próximas e distantes,
propagando o alerta em ecos alados de uma brigada à outra arranchadas na
floresta, os tambores conclamavam nervosamente às armas e rajadas erráticas de
mosquetões explodiam e se rarefaziam ao longo dos postos avançados, como o
baque seco de um leque sendo aberto, pois o nome de Stuart voando de um
piquete a outro povoara de espectros cinzentos os serenos bosques floridos.
Stuart virou-se na sela, os homens se aproximaram, contiveram os cavalos e
o fitaram atentos, os rostos circunspectos e impacientes como espelhos refletindo
a chama que consumia incessantemente o líder deles. Em seguida, do flanco,
espoucou algo como uma descarga organizada, arrancando o bule da mão de
Bayard Sartoris e zunindo e estalando com ferocidade entre as ramagens
matizadas sobre suas cabeças.
“Faça o favor de montar, senhor”, solicitou Stuart ao major cativo e, embora
ostentasse impecável cortesia, seu tom perdera toda ligeireza.
“Capitão Wylie, creio que sua montaria é a mais robusta: o senhor se
incomodaria...?” O capitão tirou o pé do estribo e ergueu o prisioneiro até a
garupa do cavalo. “Adiante”, gritou o general e girou, esporeando o cavalo baio,
e, com a tonitruante coordenação de um único centauro, lançaram-se todos
outeiro abaixo e se enfiaram no mato bem no ponto de onde viera a saraivada de
balas, antes que esta pudesse se repetir. Formas vestidas de azul saltaram e se
dispersaram à frente e sob os cavaleiros, que avançaram brutalmente por entre as
árvores com suas Miniés zumbindo como marimbondos. Stuart levava na mão o
chapéu emplumado, e seus longos cachos trigueiros, sacudidos ao ritmo da
arremetida veloz, mais pareciam chamas galhardas e fumegantes do tumultuoso
e ardente esplendor de sua ousadia.
Na retaguarda, em um dos flancos, os mosquetões ainda disparavam e
espoucavam sobre os espectros evanescentes, e de uma brigada a outra dispersa
no mato em festa os clarins soavam inoportunos alarmes. Stuart afastou-se pouco
a pouco para a esquerda, deixando para trás todo o alvoroço. A mata se abriu e
eles formaram uma coluna enquanto galopavam. O major capturado saltava e
sacudia-se na garupa do capitão Wylie, e o general puxou as rédeas, ficando ao
lado do valente cavalo negro que resfolegava sob o duplo fardo.
“Lamento incomodá-lo, senhor”, iniciou com refinada cortesia.
“Se fizer a gentileza de indicar a mais próxima patrulha montada de suas
tropas, terei o maior prazer em capturar uma montaria para o senhor.”
“Sou-lhe muito grato, general”, respondeu o major. “Mas os majores podem
ser substituídos com muito mais facilidade do que os cavalos. Por isso, prefiro
não incomodá-lo.”
“Como o senhor preferir”, replicou Stuart secamente, esporeando o cavalo e
retornando à frente da coluna. Agora galopavam por um débil resquício de
caminho. Este serpenteava por entre as paliçadas viçosas de arbustos baixos, e
eles o seguiram em passo rápido mas controlado, desembocando de repente em
uma clareira, diante de um atônito esquadrão de cavalaria ianque que
interrompeu seu movimento e depois o retomou com vigor.
Sem vacilar, Stuart rodopiou com seu grupo e o conduziu de volta à floresta.
Balas de pistolas silvavam sobre suas cabeças, e as explosões secas eram tão
triviais quanto os galhos despedaçados acima do estrondo convergente dos
cascos. Stuart abandonou a trilha e eles se lançaram temerariamente pelo mato
rasteiro. No encalço deles vinha a cavalaria nortista aos berros, e Stuart conduziu
o grupo em um círculo compacto, até que todos estacaram resfolegantes em um
denso matagal pantanoso, enquanto seus perseguidores passavam velozmente ao
largo.
Mais adiante, retomaram o caminho e o rumo anteriores, silenciosos e
absolutamente alertas. À esquerda avançavam seus perseguidores imediatos, o
ruído esvaindo-se ao longe. Então voltaram a cavalgar a meio galope. Como a
mata se adensava, foram obrigados a trotar e depois seguir a um passo lento.
Embora não se ouvissem mais tiros nem toques de clarim, mesclado ao silêncio,
acima do forte e intenso resfolegar dos cavalos e das pulsações de seus próprios
corações nos ouvidos, havia algo sem nome — um retesamento que se estirava
de uma árvore a outra como uma névoa invisível, preenchendo os bosques
matutinos e orvalhados com um presságio, embora pássaros relampejassem aos
saltos entre as árvores, sem se dar conta ou sem se importar.
Algo esbranquiçado reluziu adiante, entre as árvores; Stuart ergueu a mão e
todos detiveram as montarias, observando-o em silêncio e prendendo o fôlego
para ouvir melhor. Depois ele voltou a avançar e rompeu através dos arbustos até
outra clareira. Os cavaleiros o seguiram e logo se viram diante do outeiro com a
mesa de desjejum abandonada e a despensa saqueada. Trotaram cautelosamente
por ali e estacaram junto à mesa enquanto o general rabiscava algo
apressadamente em um pedaço de papel. A clareira estava silenciosa e não havia
ameaça sob o sol dourado que se erguia no céu; ali havia uma paz profunda e
duradoura como um vinho dourado, ainda que sob essa solidão e permeando-a
estivesse à espera aquele inefável presságio, paciente e sinistro em sua
incubação.
“A sua espada, senhor”, solicitou Stuart. O prisioneiro desembainhou a arma
e entregou-a a Stuart, que a usou para prender ao tampo da mesa a nota
rascunhada. Esta dizia:
“Cumprimentos ao general Pope da parte do general Stuart, que
lamenta não tê-lo encontrado de novo.
Amanhã voltará a entrar em contato.”
Stuart agarrou as rédeas. “Vamos embora”, disse.
Desceram a colina e atravessaram a clareira vazia. Com um meio galope
confortável, alcançaram a estrada que haviam cruzado no amanhecer; o caminho
de volta para casa. Stuart virou-se para trás e olhou de relance para o prisioneiro
e para o valente cavalo negro sob o duplo fardo. “Se o senhor nos conduzir a
uma patrulha montada, eu poderia proporcionar-lhe uma montaria adequada”,
ofereceu de novo.
“Pretende o general Stuart, comandante de cavalaria e os olhos do general
Lee, colocar em risco a sua própria segurança, a de seus homens e a de sua causa
a fim de proporcionar conforto temporário a um reles prisioneiro?”, indagou o
major. “Não há aí nenhuma bravura, e sim a temeridade de um garoto
imprudente e teimoso. Há quinze mil homens num raio de três quilômetros em
volta; nem mesmo o general Stuart pode vencer sozinho tantos homens, ainda
que sejam ianques.”
“Não pelo prisioneiro, senhor”, retrucou Stuart com altivez, “mas pelo oficial
padecendo a fortuna da guerra. Nenhum cavalheiro faria por menos.”
“Um cavalheiro nada tem a ver com esta guerra”, replicou o major. “Não há
lugar aqui para ele. É um anacronismo, como as anchovas. Pelo menos, o
general Stuart não capturou nossas anchovas”, acrescentou em provocação.
“Talvez ele envie o próprio Lee para buscá-las.”
“Anchovas”, repetiu Bayard Sartoris, que galopava ao lado, e então fez meia-
volta. Stuart gritou na direção dele, mas Sartoris fez um sinal com a mão
imprudente e teimosa e disparou adiante; quando o general se virou para segui-
lo, uma patrulha ianque fez fogo da margem da estrada e se embrenhou no mato,
soando o alarme. De imediato outros mosquetões dispararam de todos os lados, e
da floresta à direita veio o ruído de um destacamento considerável subitamente
mobilizado, e atrás deles, na direção do outeiro invisível, estourou uma
saraivada. Um terceiro oficial esporeou o cavalo e agarrou a rédeas de Stuart.
“Senhor, senhor!”, exclamou. “O que pretende fazer?”
Stuart manteve sob controle o cavalo que empinava, enquanto se ouvia outra
descarga atrás deles, esvaindo-se em tiros isolados e dispersos, até espoucar de
novo, com o barulho à direita crescendo e se aproximando.
“Vamos até lá, Alan”, disse Stuart. “Ele é meu amigo.”
O outro, porém, não largava as rédeas. “Tarde demais”, exclamou. “Sartoris
vai acabar morto e você cairia prisioneiro.”
“Vamos embora, senhor, eu suplico”, acrescentou o major cativo.
“O que é a vida de um homem comparada a uma crença renovada na
humanidade?”
“Pense em Lee, pelo amor de Deus, general!”, implorou seu ajudante de
ordens. “Vamos embora!”, gritou para os homens, esporeando o próprio cavalo e
arrastando o do general, enquanto um destacamento de cavalaria federal saía dos
bosques na retaguarda deles.
“E foi assim”, concluiu a tia Jenny, “que o senhor Stuart seguiu adiante
enquanto Bayard voltou atrás para buscar as anchovas, com todo o exército de
Pope disparando contra ele. Cavalgando, ele gritava ‘Iaaaííí, iaaaííí, vamos lá,
pessoal!’, enquanto subia o outeiro e saltava com o cavalo sobre a mesa de
desjejum, conduzindo-o até a barraca saqueada da intendência, e ali um
cozinheiro escondido sob os destroços colocou o braço para fora e disparou nas
costas de Bayard com uma pequena pistola.
“O senhor Stuart abriu caminho a ferro e fogo e conseguiu voltar para casa
perdendo apenas dois homens. Ele sempre falava muito bem de Bayard. Dizia
que era um bom oficial e um cavaleiro de escol, mas também que era imprudente
demais.”
Permaneceram calados à luz do fogo. As chamas saltavam e crepitavam na
lareira e fagulhas se elevavam em inquietas fumaradas rodopiantes chaminé
acima, e a breve carreira de Bayard Sartoris atravessou como uma estrela
cadente a escura planície de sua lembrança e sofrimento comuns, iluminando-o
de um brilho efêmero como uma trovoada silenciosa, deixando em sua esteira
uma espécie de radiância. O hóspede, o engenheiro escocês, ouvira a história
sentado, em silêncio. E depois de um tempo falou.
“Quando voltou atrás, ele não tinha certeza de que encontraria as anchovas,
não é?”
“O major ianque disse que havia”, retrucou tia Jenny.
“É.” O escocês voltou a cismar. “E o senhor Stuart retornou no dia seguinte,
como disse no bilhete?”
“Voltou na tarde do mesmo dia”, respondeu tia Jenny, “para saber de
Bayard.” Cinzas suaves como penugens rosadas destacaram-se incandescentes,
caindo na lareira e perdendo toda a cor. John Sartoris inclinou-se na direção do
fogo e cutucou com o cano do mosquetão ianque os troncos que ainda
queimavam.
“Aquele foi o exército mais danado que o mundo já viu, na minha opinião”,
comentou.
“É verdade”, concordou tia Jenny. “E Bayard era o mais danado deles.”
“É mesmo”, admitiu John Sartoris, gravemente. “Bayard era fogo.”
O escocês então voltou a falar. “Esse senhor Stuart, que disse que seu irmão
era imprudente, quem era ele?”
“Era o general de cavalaria Jeb Stuart”, respondeu tia Jenny. Ela ficou
pensativa a contemplar o fogo; seu rosto pálido e indômito exibiu por um
instante uma ternura serena. “Ele tinha um senso de humor peculiar”,
acrescentou. “Nada jamais lhe pareceu tão divertido quanto ver o general Pope
em sua camisola de dormir.” Ela voltou a sonhar com algum lugar remoto, para
além dos baluartes rubros das brasas. “Coitado”, disse ela, e então concluiu em
tom mais baixo: “Dancei uma valsa com ele em Baltimore em 58”, e sua voz era
altiva e calma como estandartes tombados em meio à poeira.
Mas agora a porta estava fechada, e o pouco de luz que passava pelos vitrais
era profundamente solene. À esquerda de Bayard estava o quarto do neto, o
quarto no qual a mulher de seu neto e a criança dela haviam morrido em outubro
passado. Ele parou diante da porta, antes de abri-la sem fazer ruído. As persianas
estavam cerradas e o quarto tinha aquela calma opressiva da desocupação, e ele
fechou a porta e seguiu adiante com os desatentos pés de chumbo dos surdos, até
o seu próprio quarto, batendo a porta com força atrás de si, como costumava
fazer.
Sentou-se e tirou os sapatos, feitos sob medida duas vezes ao ano em um
estabelecimento de St. Louis, e, apenas de meia, aproximou-se da janela,
olhando lá de cima para a égua selada e amarrada a uma amoreira no pátio
traseiro e para um menino negro esguio como um cão de caça, intensamente
imóvel ao lado do animal. Desde a cozinha, o incessante canto em tom menor de
Elnora avançava e recuava, inaudível por Bayard, sobre a cena langorosa.
Ele foi até o armário e retirou um par de velhas botas de montaria, colocou-
as e ajustou-as batendo no chão, pegou um charuto no umidor sobre o criado-
mudo e ficou parado com o charuto apagado entre os dentes. Por cima do pano
do bolso, sua mão apalpara o cachimbo, e então ele o extraiu de lá e voltou a
examiná-lo, parecendo-lhe que ainda ouvia a voz do velho Falls em animada
recapitulação: “O coroné tava lá, refestelado na cadeira, os pé com meia apoiado
na grade da varanda, fumando esse mesmíssimo cachimbo. A veia Louvinia tava
sentada no degrau, cascando uma panela de ervilha pra janta. E oia que, naquele
tempo, às vez uma pessoa tava bem contente quando tinha só ervilha pra comer.
E você tava sentado no fundo, encostado na coluna. Eles não queriam ninguém
mais lá além da sua tia, a de antes da chegada da sinhá Jenny. O coroné tinha
mandado as duas menina pra Memphis, pro seu bisavô, quando foi pra Virgínia
com aquele regimento que virou casaca e votou para que ele deixasse de ser
coroné. Votou assim porque ele não dava moleza com os ladrão de acampamento
sorrateiro que aparecia com uma espingarda achada por aí e se considerava
soldado. Você inda era pequeno, acho. Quantos ano você tinha na época,
Bayard?”
“Catorze.”
“Quanto?”
“Catorze. Mas será que tenho de dizer isso toda vez que você vem com essa
maldita história?”
“E lá tava você sentado quando eles apareceram no portão e vieram trotando
pelo caminho da carruagem.
“A veia Louvinia deixou cair a panela com ervilha e soltou um grito, mas o
coroné mandou que calasse a boca e fosse buscar as bota e pistola dele e levasse
elas pra porta dos fundos, enquanto você ia ao estábulo cilhar o garanhão. E
quando os ianque chegaram e pararam — bem ali onde agora tem aquele
canteiro de flores –, não tinha ninguém, só o coroné, sentado ali como se nunca
tivesse ouvido falar em ianque.
“Os ianque ficaram montado, conversando entre eles, sem saber se era ou
não era a casa certa, e o coroné também ficou ali sentado com os pé só de meia
apoiado na grade, olhando embasbacado pra eles como um capiau. O oficial
ianque mandou um deles ir até o estábulo e procurar o garanhão, e em seguida
disse pro coroné: “‘Diga lá, rapaz, onde é que mora o rebelde John Sartoris?’
“‘Mora um tiquinho pra adiante na estrada’, diz o coroné, sem nem mesmo
piscar. ‘Uns dois quilômetro, por aí. Mas cê não vai achar ele lá agora, não. Ele
saiu para lutar contra os ianque.’
“‘Bem, é melhor você vir com a gente para mostrar o caminho, mesmo
assim’, diz o oficial ianque.
“Aí o coroné se levantou bem devagar e disse que ia pegar os sapato e a
bengala, e entrou mancando na casa, e eles ficaram esperando lá fora.
“Assim que saiu da vista deles, ele pertou o passo. A veia Louvinia tava
esperando ele no fundo, com o casaco, as bota, as pistola e a merenda de pão de
milho. O outro ianque tinha ido pro estábulo, e o coroné pegou as coisa da
Louvinia, enrolou tudo no casaco e começou a cruzar o pátio de trás como se
tivesse dando uma volta. Foi aí que o ianque chegou no estábulo.
“‘Não tem nenhum animal por aqui’, diz ele.
“‘Tem não. O capitão tá chamando você’, diz o coroné, seguindo em frente.
Ele podia sentir o olho do ianque nas costa dele, fixando entre os ombro o ponto
em que ia mandar bala. O coroné contou que aquilo foi a coisa mais difícil que
fez na vida, cruzar o pátio de costa praquele ianque, sem poder sair correndo. Ele
tava mirando pro canto do estábulo, aí a casa ia ficar entre eles, e o coroné disse
que parecia que tava andando um ano, sem conseguir avançar e sem coragem de
olhar pra trás. O coroné disse que nem mesmo tava pensando em nada, a não ser
que tava contente de as menina não tá por ali. Disse que nem chegou a pensar
em sua tia lá na casa, porque, disse, ela era uma Sartoris de verdade e podia
muito bem dar conta de qualquer dúzia de ianque.
“Então o ianque gritou algo pra ele, mas o coroné continuou andando, sem
olhar pra trás nem fazer nada. Aí o ianque gritou de novo e o coroné disse que
podia ouvir o cavalo se mexendo e decidiu que era hora de passar sebo nas
canela. Virou o canto do estábulo bem na hora em que o ianque deu o primeiro
tiro, e quando o ianque chegou lá, ele tava já no chiqueiro, correndo pelas moita
de figueira-brava no rumo do riacho, onde você tava esperando com o garanhão,
escondido nos chorão.
“E você ficou lá plantado, segurando o cavalo, enquanto a patrulha ianque
vinha berrando atrás e o coroné tentava colocar as bota. E aí ele disse procê dizer
pra sua tia que ele num ia voltar pra janta.”
“Mas por que você está me contando tudo isso, depois de tanto tempo?”, ele
havia perguntado, com o cachimbo entre os dedos, e aí o velho Falls dissera que
um asilo não era um lugar apropriado para aquilo.
“Isso era um troço que tava sempre no bolso dele e dava prazer pra ele
naquela época. A história era outra, acho, quando tava construindo a estrada de
ferro. Aí sempre dizia nas noites de sábado que a gente ia acabar tudo no asilo.
Só que nisso passei na frente dele. Cheguei lá antes dele. Ou então talvez tenha
pensado no cemitério, ele andando de um lado pro outro na obra com um alforje
de dinheiro, noite e dia, tando só um dormente adiante do asilo, como dizia. Foi
aí que as coisa mudou. Quando teve de começar a matar gente. Aqueles dois
nortista agitando os negro, e ele entrou direto no lugar em que tavam sentado
atrás de uma mesa com as pistola à frente, e também aquele ladrão, e aquele
outro fulano que ele matou, todos com a mesma pistola danada. Quando alguém
começa a matar gente por precisão, aí não tem mais como parar. E quando isso
acontece, a pessoa ela mesma já tá morta.”
Estava estampada na testa de John Sartoris a sombra escura da fatalidade e
da sina, naquela noite em que, sentado à luz das velas na sala de jantar, girava
uma taça de vinho entre os dedos enquanto falava com o filho. A ferrovia estava
pronta, e naquele dia ele fora eleito para a legislatura estadual depois de uma luta
dura e amarga, e a sina estava delineada em sua testa, assim como a exaustão.
“E é assim”, disse ele, “que Redlaw vai me matar amanhã, pois não vou
levar a arma. Estou cansado de matar... Passa o vinho, Bayard.”
E no dia seguinte ele estava morto, como se apenas aguardasse por aquilo
para se livrar do canhestro sacolejar dos ossos e do alento, e, despojado da
frustração da própria carne, agora podia enrijecer e moldar aquilo que dele
emanava com a semelhança fatal de seu sonho; para ser evocado como gênio ou
divindade nas tediosas reminiscências de um velho analfabeto ou em um
chamuscado cachimbo do qual até mesmo o cheiro rançoso de tabaco queimado
havia muito sumira.
O Bayard Velho despertou e colocou o cachimbo sobre a cômoda.
Em seguida saiu do quarto, desceu a escada com passos ruidosos e saiu pelos
fundos.
O moleque negro acordou de imediato, desatou a égua e estendeu as rédeas.
O Bayard Velho montou e, por fim, lembrando-se do charuto, o acendeu. O
negro abriu a porteira do pátio e, trotando à frente, abriu também a outra
porteira, permitindo que o cavaleiro entrasse no campo mais além. Bayard saiu
cavalgando, deixando um rastro pungente de fumaça. De algum lugar surgiu um
perdigueiro malhado que seguiu os calcanhares da égua.
De pé e descalça na cozinha, Elnora molhou o esfregão no balde e o passou
de novo no chão.
O pecador levanta do banco dos aflito,
O pecador pula pro banco dos contrito;
Quando o pregador pergunta o motivo,
Diz, “Tanta mulher como eu tem o pregador”.
Ó Senhor, ó Senhor! Na igreja as coisa num anda nada bem.
2.
O destino de Simon era uma imensa casa de tijolos bem no alto da rua. O
terreno abrigara uma bela e antiga casa colonial, construída entre magnólias e
carvalhos e arbustos floridos. Mas a casa havia sido destruída por um incêndio, e
algumas das árvores foram derrubadas para dar lugar a uma confusão
arquitetônica tão espantosamente imponente que chegava a ter um quê de
majestade. Era um monumento à frugalidade (e o mausoléu das aspirações
sociais de suas mulheres) de um homem da serra originário de um povoado
conhecido como Curva do Francês e que, como dizia a senhorita Jenny Du Pre,
acabara construindo a casa mais bela da Curva do Francês no local mais
aprazível de Jefferson. O serrano aguentara ali por longos dois anos, durante os
quais as mulheres da casa ficavam sentadas na varanda a manhã toda com toucas
rendadas e passavam as tardes com vestidos de seda colorida, circulando pelo
vilarejo em uma charrete com rodas de borracha; em seguida, o serrano vendeu a
casa para um recém-chegado à cidade e levou suas mulheres de volta para a
roça, e sem dúvida colocou-as para trabalhar de novo no eito.
Vários carros estacionados no meio-fio conferiam ao local um ar formal de
festividade, e Simon, com seu toco de charuto inclinado, avançou até lá, puxou
os arreios e teve uma breve e animada altercação com um negro sentado ao
volante de um carro parado junto ao poste de amarrar os cavalos. “Nunca
atrapalhe uma charrete dos Sartoris, moleque”, concluiu Simon, quando o outro
moveu o carro, permitindo-lhe o acesso ao poste. “Se quiser ficar no caminho
dos outros, pode ficar, mas não atrapalha nenhum veículo do coroné ou da sinhá
Jenny. Eles num tão pra esse tipo de coisa.”
Ele desmontou e amarrou os cavalos e, com o coração amolecido após dar a
bronca e de alma lavada por ter conseguido o que queria, Simon parou e
examinou o carro com curiosidade e não pouco desdém, este ligeiramente
mesclado a uma respeitosa inveja, dirigindo-se afavelmente ao motorista. Mas
não por muito tempo, pois Simon tinha irmãs no Senhor na cozinha da casa, e
por isso seguiu até o quintal, pelo caminho de cascalho que dava nos fundos. Ele
podia ouvir os ruídos da festa ao passar sob as janelas — a conversa ininterrupta
e ininteligível com que as senhoras brancas podiam se entreter sem esforço e que
lhes pareciam um adjunto necessário (ou inevitável) dos momentos de diversão.
O fato de ser uma reunião de carteado não teria parecido paradoxal nem
surpreendente para Simon, pois o tempo e muita experiência absorvida haviam
incutido nele uma requintada tolerância diante das extravagâncias dos brancos e
das senhoras de qualquer cor.
O serrano erguera a casa tão próxima da rua que a maior parte do gramado
original, com suas velhas e imponentes árvores, acabou ficando na parte dos
fundos. Antes havia ali desordenadas moitas de extremosas, lilases e jasmins, e
uma profusão de madressilva nas cercas e nos troncos das árvores, mas após o
incêndio da construção anterior, estas haviam tomado conta do lugar e
transformado sua rude informalidade em uma selva labiríntica e perfumada,
apreciada por sabiás e tordos, onde meninos e meninas passavam as noites de
primavera e verão, em meio a nuvens de vaga-lumes e ao coro dos noitibós, e em
geral também do trêmulo líquido e estridente de uma coruja. Aí o serrano
adquiriu a propriedade, derrubou algumas das árvores para erguer a casa junto à
rua conforme a praxe no campo, acabou com a selva, pintou de cal as árvores
restantes e estendeu as cercas do estábulo, do chiqueiro e do galinheiro entre os
troncos fantasmagóricos. Mas não morou ali tempo suficiente para ter a ideia de
construir garagens.
Algo da desolação estéril do período em que ali viveu já se atenuara agora, e
seu atual proprietário havia semeado outras plantas — jasmim, lilás e verbena –,
à sombra das quais colocou mesas e cadeiras de ferro verde, assim como uma
piscina e uma quadra de tênis; Simon avançou com discreta segurança e, em
meio ao murmúrio despojado de consoantes das vozes femininas, adentrou a
cozinha, sendo recebido pelos olhares de uma mulher magra com um fúnebre
turbante roxo, segurando um biscoito com maionese, e de uma outra, imensa sob
o avental manchado de seu ofício, que bebia sorvete derretido de um prato.
“Eu vi ele na rua, e ele tava um caco; ele não se cuida...”, dizia a visitante
quando Simon entrou, mas todas interromperam a conversa e deram-lhe as boas-
vindas.
“Olha aí o irmão Strother”, exclamaram ambas ao mesmo tempo.
“Chega mais, irmão. Como vai o sinhô?”
“Mal e mal, senhoras”, respondeu Simon, tirando o chapéu e guardando
dentro dele o restolho do charuto. “Uma dor miserável nas costa tá me
infernizando. E com vocês, tudo bem?”
“Bem, obrigado, irmão”, respondeu a visitante. Simon puxou a cadeira que
lhe ofereceram para junto da mesa.
“O que vai comer, irmão?”, indagou solícita a cozinheira. “Tem as coisa da
festa, e tem umas verdura, e também um pouco de sorvete que sobrou do
almoço.”
“Acho que vou querer um pouco de sorvete e de verdura, irmã Rachel”,
respondeu Simon. “Num tenho muito gosto mais pra coisa de festa.” Erguendo-
se com majestosa deliberação, a cozinheira foi bamboleando até um armário
buscar um prato. Era uma das melhores cozinheiras de Jefferson; nenhuma
patroa ousava protestar contra as animadas reuniões nos domínios de Rachel.
“Mas que véio safado esse!”, exclamou a visita. “Comendo sorvete nessa
idade!”
“Tem sessenta ano que como sorvete”, disse Simon. “Por que vou pará
agora?”
“É isso mesmo, irmão Strother”, concordou a cozinheira, colocando o prato
diante dele. “Come sorvete enquanto pode. Espera um minuto que vou… Ei,
Meloney”, ela parou de falar quando entrou uma jovem mulata com elegante
avental branco e touca impecável, trazendo uma bandeja com pratos contendo os
resquícios de monumentos comestíveis, copiados de estampas em revistas
femininas, nem substanciosos nem nutritivos, com os quais as convivas vinham
amortecendo o paladar antes do jantar, “pega uma taça de sorvete pro irmão
Strother, querida.”
A jovem jogou a bandeja na pia e lavou uma taça sob a torneira enquanto
Simon a observava com seus olhos pequenos e imóveis.
Enxugou às pressas a taça com um pano de prato em uma mostra requintada
de desdenhosa negligência e, com o nariz empinado, atravessou ruidosamente a
cozinha com seus saltos altos, sempre sob o olhar de Simon, batendo a porta ao
sair. Só então Simon virou a cabeça.
“Sim, senhora”, repetiu ele, “tanto tempo que venho tomando sorvete que
num vou deixar de fazer isso agora.”
“Bem, mal não faz, enquanto a gente puder digerir”, concordou a cozinheira,
levando de novo o pires aos lábios. A jovem retornou e, com a cabeça ainda
virada para o outro lado, colocou a taça de líquido viscoso diante de Simon, que,
oculto por esse movimento, pousou a mão na coxa dela. A jovem bateu com
força na parte de trás da cabeça grisalha de Simon com sua mão espalmada.
“Nhá Rachel, fala pra ele parar com essa mão boba”, exclamou.
“Você não tem vergonha?”, perguntou Rachel, sem rancor. “Um velho de
cabelo branco, com os filho criado e um pé na cova?”
“Deixa estar, mulher”, respondeu Simon com placidez, pondo uma colherada
de espinafre em seu sorvete derretido. “Lá dentro num tão já preparando pra
sair?”
“Deve tá”, respondeu a visita, colocando outro biscoito na boca com um
gesto de elegante civilidade, “parece que tão falando mais alto.”
“Então voltaram a jogar”, corrigiu Simon. “A conversa só baixou porque
tavam comendo. Sim, senhor, voltaram pro jogo. É assim com os branco. Os
negro não consegue jogar carta no meio de tanta barulheira.”
Mas estavam mesmo se despedindo. A senhorita Jenny Du Pre acabara de
relatar uma história que fez com que as outras três mulheres em sua mesa
evitassem se entreolhar com certo constrangimento, como costumava ocorrer.
Ela viajava muito pouco e jamais frequentava salas de fumantes nos vagões
Pullman, e todos se perguntavam onde, e de quem, ouvia tais histórias. E
costumava repeti-las em toda parte, e a qualquer hora, escolhendo os momentos
e os ouvintes menos apropriados com uma audácia gélida jovial. Os jovens
gostavam dela, e ela era muito requisitada como acompanhante de grupos que
faziam piquenique.
Agora ela anunciava pela sala, dirigindo-se à anfitriã. “Vou embora, Belle”,
afirmou. “Acho que estamos todas cansadas de sua reunião. Eu, pelo menos,
estou exausta.” A anfitriã era uma mulher roliça e juvenil, e seu rosto habilmente
maquiado com ruge revelava uma absorção histérica quase repousante, mas
quando a senhorita Jenny assomou-lhe à consciência com a iminência da partida,
despertou de vez, seu semblante recobrou a expressão familiar de tensa e vaga
insatisfação, e emitiu os protestos de praxe, mas com petulante sinceridade,
como o faria uma criança bem-educada.
Mas a senhorita Jenny estava irredutível. Ela se levantou e sua mão enrugada
e fina afastou migalhas invisíveis do colo de seu vestido negro de seda. “Se ficar
mais um pouco, vou perder a hora do grogue de Bayard”, explicou com sua
franqueza costumeira. “Vamos lá, Narcissa, eu levo você para casa.”
“Estou de carro, obrigada, senhorita Jenny”, respondeu com voz grave de
contralto a jovem enquanto se erguia também; e todas as outras se levantaram
em um movimento concertado e sibilante em meio à petulante modulação dos
protestos da anfitriã, e se dirigiram lentamente ao vestíbulo, formando outros
grupinhos diante dos espelhos, animadas e estridentes. A senhorita Jenny
avançou firmemente em direção à porta.
“Vamos, vamos”, insistiu ela. “Harry Mitchell não vai gostar de ver essa
barulheira quando chegar do trabalho.”
“Então ele que fique sentado no carro, lá na garagem”, retrucou
incisivamente a anfitriã. “Eu queria mesmo que não fosse agora, senhorita Jenny,
mas não vou insistir.”
Esta, contudo, limitou-se a dizer “Até mais, até mais” com fria afabilidade e,
com sua delicada réplica do nariz dos Sartoris e aquelas costas eretas de
granadeiro que só perdiam em rigidez para as costas de outra pessoa na cidade
— as do seu sobrinho Bayard –, postou-se no alto dos degraus, seguida por
Narcissa Benbow, que exalava como que um aroma daquela aura de grave e
serena calma na qual habitava. “Belle não estava falando de brincadeira”,
comentou a senhorita Jenny.
“A respeito do que, senhorita Jenny?”
“Sobre o Harry... Ora, onde será que aquele negro desgraçado se enfiou?”
Desceram os degraus e, dos carros parados junto à calçada, vieram explosões
abafadas dos motores sendo ligados, enquanto as duas percorriam o breve
caminho margeado de flores até a rua. “Sabe onde está o meu motorista?”,
perguntou a senhorita Jenny ao negro no carro mais próximo.
“Ele foi lá pro fundo, sinhá.” O negro abriu a porta e deslizou para fora as
pernas, vestidas com uma calça de uniforme militar e polainas de linóleo. “Vou
chamar ele.”
“Obrigada. Bem, graças a Deus, ainda bem que acabou”, acrescentou ela.
“Pena que as pessoas não tenham o bom senso ou a coragem de distribuir os
convites e, depois, fechar a casa e ir embora. Toda a graça das festas está nos
preparativos e na chegada.” Senhoras desciam pelo caminho em grupos
animados e entravam nos carros ou partiam a pé, despedindo-se umas das outras
com exclamações altas e pouco musicais. O sol já estava baixo, atrás da casa de
Belle, e quando passavam da sombra para os raios oblíquos do sol, as mulheres
adquiriam um resplendor delicado como o de papagaios. Narcissa Benbow
estava vestida de cinza, os olhos eram cor de violeta e no seu rosto estampava-se
a calma tranquila dos lírios.
“Não as festas de crianças”, protestou ela.
“Estou falando dessas reuniões, não de diversão”, disse a senhorita Jenny.
“Falando em crianças… alguma notícia do Horace?”
“Ó, não lhe disse ainda?”, respondeu de imediato a outra. “Ontem recebi um
telegrama. Desembarcou em Nova York na quarta. Mas a mensagem era tão
confusa! Não consegui entender o que escreveu, a não ser que teria de ficar em
Nova York por uma semana ou algo assim. Tinha mais de cinquenta palavras.”
“Era uma mensagem normal?”, indagou a senhorita Jenny. Diante da
confirmação da outra, ela concluiu: “Horace deve ter ficado rico, como dizem os
soldados a respeito de todos os que serviam na A.C.M. Bem, se por causa da
guerra alguém como Horace aprendeu a ganhar dinheiro, até que isso acabou
sendo uma coisa boa.”
“Senhorita Jenny! Como pode falar assim, depois do que houve com o
John... depois de...”
“Bobagem”, replicou a senhorita Jenny. “A guerra apenas deu ao John uma
boa desculpa para se matar. Se não tivesse sido assim, ele teria encontrado outro
jeito que teria incomodado todo mundo em volta.”
“Senhorita Jenny!”
“Sei do que estou falando, minha cara. Vivi com esses cabeças-duras dos
Sartoris durante oitenta anos e jamais vou dar a qualquer fantasma deles a
satisfação de derramar uma lágrima por sua causa. O que dizia a mensagem de
Horace?”
“Era sobre algo que estava trazendo para casa”, respondeu a outra, com o
rosto sereno tomado por uma espécie de exasperação afetuosa.
“Era uma mensagem tão incoerente... Horace nunca conseguiu dizer nada
claramente quando estava longe.” Ela voltou a cismar, olhando para a rua
ladeada por carvalhos e olmos, entre os quais recaíam os raios de sol em listras
tigradas regulares. “Será que ele acabou adotando um órfão de guerra?”
“Órfão de guerra?”, repetiu a senhorita Jenny. “É bem mais provável que seja
a mãe de um órfão de guerra.”
Simon despontou no canto da casa, limpando a boca com a mão, e atravessou
gingando e apressado o gramado. Não se via seu charuto.
“Não, isso não”, disse a outra logo a seguir, séria e preocupada. “A senhorita
não acha que ele faria isso, acha? Não, não, ele não faria isso; Horace não faria
tal coisa. Ele não faz nada sem falar antes comigo. Ele teria me escrito; tenho
certeza de que faria isso. A senhorita não acha mesmo que isso parece coisa do
Horace, acha? Uma coisa assim?”
“Humpf”, fungou a senhorita Jenny, através de seu acentuado nariz
normando. “Um inocente como Horace, perdido com aquele ar confiável entre
todas aquelas mulheres desesperadas por homem? Ele jamais iria perceber algo
até que fosse tarde demais. Aposto que, em toda cidade na qual passou mais de
uma semana, sua hospedeira ou alguma outra costumava guardar o jantar no
forno para quando chegasse tarde ou recusar açúcar para outros homens, a fim de
adoçar o café dele. Alguns homens nascem para encontrar mulheres dispostas a
ser capacho deles, assim como outros nascem para ser traídos... Quantos anos
você tem?”
“Ainda tenho vinte e seis, senhorita Jenny”, respondeu tranquilamente.
Simon desamarrou os cavalos e agora estava ao lado da charrete em sua
postura especial para a senhorita Jenny. Não era a mesma daquela diante do
banco; agora notava-se nele uma deferência galante e protetora. A senhorita
Jenny examinou a serenidade impassível da outra.
“Por que você não arruma um marido e deixa aquele bebê se virar sozinho?
Lembre-se do que vou dizer, não dou nem seis meses para que alguma mulher se
derreta toda pelo privilégio de enxugar os pés dele, e aí ele nem vai se lembrar
de você.”
“Eu prometi à mamãe”, respondeu a outra em voz baixa, sem se alterar. “Só
não entendo por que não podia me mandar um telegrama compreensível.”
“Ora”, a senhorita Jenny virou-se para a carruagem. “Talvez afinal seja
mesmo só um órfão”, disse, tranquilizando-a de modo nada animador.
“Bem, logo vou ficar sabendo de tudo”, concluiu a outra, voltando-se e
caminhando até um carro pequeno, parado no meio-fio, cuja porta abriu.
A senhorita Jenny acomodou-se na charrete e Simon montou em seguida e
apanhou os arreios. “Avise quando tiver mais notícias”, ainda gritou com a
charrete em movimento. “Venha quando quiser e leve mais flores.”
“Obrigada. Até mais.”
“Vamos, Simon.” A charrete voltou a se mover, e de novo Simon guardou as
novas para quando estivessem fora da cidade.
“Nhô Bayard voltou pra casa”, comentou, retomando o mesmo tom
coloquial.
“Onde ele está?”, perguntou imediatamente a senhorita Jenny.
“Ainda não veio pra casa”, respondeu Simon. “Acho que foi pro cemitério.”
“Besteira”, retrucou a senhorita Jenny. “Nenhum Sartoris jamais foi ao
cemitério mais de uma vez... O coronel sabe que ele voltou?”
“Sim senhora. Eu disse pra ele, mas acho que não acreditou que eu tava
dizendo a verdade.”
“Está dizendo que ninguém o viu além de você?”
“Eu também não vi ele”, negou Simon. “Um empregado da ferrovia viu ele
pulando do trem e me contou...”
“Ô negro desgraçado e burro!”, explodiu a senhorita Jenny. “E aí você foi lá
e falou uma besteira dessas para o Bayard? Você não podia ter pensado um
pouco antes de abrir a boca?”
“O empregado da ferrovia viu ele”, teimou Simon. “Acho que reconheceu
nhô Bayard quando viu ele.”
“Bem, e onde é que ele está, então?”
“Deve tá no cemitério”, sugeriu Simon.
“Toca para a frente e presta atenção no caminho.”
A senhorita Jenny encontrou o sobrinho no escritório, acompanhado de dois
perdigueiros. A sala tinha as paredes cobertas por estantes contendo fileiras de
pesados tomos de direito encadernados em couro pardo, dos quais emanava uma
atmosfera de meditação empoeirada e imperturbada, e uma miscelânea de obras
de ficção histórico-românticas (havia tudo de Dumas, e a firme sucessão dos
volumes agora constituía toda a leitura de Bayard, e sempre um daqueles
volumes estava em seu criado-mudo), assim como uma coleção de objetos
disparatados — saquinhos com sementes, velhas esporas, freios e fivelas de
arreios todos enferrujados, brochuras sobre doenças de animais e plantas, caixas
de fumo ornamentadas que ganhara de presente em várias ocasiões e
aniversários e jamais usara, inexplicáveis fragmentos de rocha e raízes e vagens
secas –, todos coletados um por vez e por razões que havia muito se perderam
em sua memória, mas mesmo assim continuavam a ser guardados. Na sala havia
um armário enorme, com um cadeado na porta, e uma grande mesa coberta por
outros objetos variados, e também uma escrivaninha com tampo de correr
trancada (chaves e trancas eram uma de suas obsessões), assim como um sofá e
três grandes poltronas de couro. Essa sala costumava ser chamada de escritório,
e Bayard agora estava sentado ali de chapéu e botas de montaria, transferindo
bourbon de um pequeno barrilete para um decantador com tampo de prata,
enquanto os cães o observavam com solene gravidade.
Um dos cães era muito velho e estava quase cego. Passava grande parte do
dia deitado ao sol no pátio ou, nos dias quentes de verão, na fresca e empoeirada
obscuridade ao lado da cozinha. Todavia, no meio da tarde, ia até a frente da
casa, e ali esperava tranquilo e sério até que a carruagem despontasse no
caminho; e quando Bayard acabava de descer e entrar, ele regressava ao pátio
dos fundos, e ali ficava até que Isom trouxesse a égua e Bayard aparecesse e a
montasse. Então juntos passavam a tarde vagando em silêncio e sem pressa pelos
prados e campos e bosques em suas mutações sazonais — o homem em seu
cavalo e o perdigueiro malhado gravemente ao lado, enquanto o crepúsculo de
suas vidas avançava até o encerramento pacífico naquela terra benéfica em que
ambos se haviam criado.
O cão mais jovem não completara dois anos e tinha uma índole inquieta
demais para a pacatez geral daquele relacionamento, e ainda que por vezes os
acompanhasse, ou surgisse de repente, desengonçado e ansioso, de alguma parte
para encontrá-los no meio do caminho, não conseguia ficar junto deles por muito
tempo, e logo saía correndo, balançando a língua e a plumagem tensa e delicada
da cauda, atrás dos odores enlouquecedores e esquivos com os quais o mundo o
circundava e o tentava em todas as moitas, matos e ravinas.
As botas de Bayard estavam molhadas até os canos e as solas, empastadas de
lama, e ele se inclinava absorto sobre o barrilete e a garrafa diante da discreta
curiosidade dos cães. O barrilete estava virado para cima e ele, com um sifão e
um tubo de borracha, transvasava cuidadosamente o licor espesso e escuro para
o decantador.
A senhorita Jenny adentrou, seu chapéu escuro ainda equilibrado bem no alto
de sua cabeça grisalha, e os cães a fitaram, o velho com grave dignidade, o
jovem com mais rapidez, batendo a cauda no chão em timidez servil. Bayard, no
entanto, não ergueu a cabeça. A senhorita Jenny fechou a porta e lançou um
olhar impassível às botas dele.
“Seus pés estão encharcados”, afirmou. Mesmo aí ele não levantou os olhos,
mas continuou a segurar levemente o tubo no gargalo enquanto o nível da bebida
aumentava sem parar no decantador. Às vezes a surdez era bastante conveniente
para ele, mais conveniente do que real, talvez; mas quem saberia ao certo? “É
melhor você subir e tirar essas botas”, ordenou a senhorita Jenny, erguendo a
voz. “Deixa que eu termino de encher o decantador.”
No interior da serena torre fortificada de sua surdez, porém, ele permaneceu
impassível até que o decantador estivesse cheio; só então apertou o tubo e o
levantou, para que o resto escoasse de volta ao barrilete. O cão velho não se
movera, mas o jovem recuara para trás de Bayard, onde ficou imóvel e alerta, a
cabeça apoiada nas patas dianteiras cruzadas, observando a senhorita Jenny sem
piscar e com um olhar úmido. Bayard retirou o tubo do barrilete e a fitou pela
primeira vez. “O que você disse?”
A senhorita Jenny deu-lhe as costas, foi abrir a porta e gritou algo na direção
do vestíbulo, provocando uma reação alarmada na cozinha, logo seguida pela
aparição em carne e osso de Simon. “Vá buscar os chinelos do coronel”, ordenou
ela. Quando se voltou de novo para dentro do quarto, nem Bayard nem o
barrilete estavam visíveis, mas da porta aberta do armário projetavam-se os
quartos traseiros do cão curioso e o tenso tremelicar de sua cauda barométrica;
em seguida, Bayard enxotou o cão com os pés, saiu do armário e trancou a porta.
“Simon já chegou?”, perguntou.
“Ele já vem”, respondeu ela. “Acabei de chamá-lo; sente-se e tire essas botas
molhadas.” Nesse momento Simon chegou com os chinelos, Bayard sentou-se
obedientemente e tirou as botas sob o olhar implacável da senhorita Jenny. “As
meias estão secas?”, perguntou ela.
“Tão, sinhá, não tão molhada, não”, respondeu Simon. Mas ela se abaixou e
verificou com a mão.
“Ora, ora”, resmungou Bayard irritado, mas a senhorita Jenny apalpou-lhe
ambos os pés de modo brusco e imperturbável.
“Não é de todo sua culpa se elas não estão”, disse ela em voz alta para
vencer a muralha da surdez dele. “E você tinha de vir com essa história sem pé
nem cabeça...”
“O homem da ferrovia viu ele”, repetiu Simon obstinadamente, colocando os
chinelos nos pés de Bayard. “Num disse que fui eu que vi ele.” Em seguida ficou
em pé e limpou as mãos na calça.
Bayard bateu os pés para ajustar os chinelos. “Traga as coisas do grogue,
Simon.” Então, volvendo a cabeça para a tia, num tom que tentou tornar
espontâneo: “Simon falou que o Bayard chegou no trem da tarde”. Mas a
senhorita Jenny já voltara a ralhar com Simon.
“Volte aqui e pegue essas botas e leve para junto do fogão”, disse ela. Simon
voltou, esgueirou-se rapidamente pela lareira e agarrou as botas. “E leve esses
cães para fora daqui também”, acrescentou. “Graças a Deus ele não teve a ideia
de entrar aqui com o cavalo.” Imediatamente o cão mais velho aproximou-se dos
pés de Simon e, seguido pela vivacidade contida do mais novo, os dois partiram
com a mesma premeditação fingida com que tanto Bayard quanto Simon se
sujeitavam à ríspida implacabilidade da senhorita Jenny.
“Simon disse que...”, repetiu Bayard.
“O Simon falou bobagem”, replicou a senhorita Jenny. “Há sessenta anos
que você convive com o Simon e ainda não aprendeu que, mesmo se tropeçar na
verdade, ele não vai se dar conta?” E ela foi atrás de Simon desde o quarto até a
cozinha e, enquanto a espigada e amarelada filha deste debruçava-se sobre o
tabuleiro de biscoitos e Simon enchia uma jarra de vidro com água fresca e fatias
de limão e a colocava em uma bandeja com um açucareiro e dois copos altos, a
senhorita Jenny ficou à porta e o fustigou de tal modo que encrespou ainda mais
o que restava dos cabelos grisalhos na cabeça de Simon. Ela dominava os
recursos da língua com perfeição, mas, quando irada, chegava facilmente a
alturas sublimes. Possuía uma clareza incisiva, uma simplicidade vívida e um
audacioso uso da metáfora que faria inveja ao próprio Demóstenes e que era
entendido até pelas mulas e de cujo propósito mesmo os mais obtusos logo se
davam conta; e sob a torrente de sua fúria, a cabeça de Simon balançava cada
vez mais prostrada, e a elegante pretensão de alheamento desprendia-se dele
como penugem velha, até que ele levantou a bandeja e, desviando-se, escapuliu
do aposento. A voz da senhorita Jenny o acompanhou, atenuando-se sem esforço
e ampliando-se cada vez mais de modo a incluir alertas e recomendações para a
futura conduta de Simon e Elnora e todos os descendentes deles, existentes e
problemáticos, ao longo dos anos vindouros.
“E da próxima vez”, concluiu, “que você, ou qualquer ferroviário, guarda-
freio ou carregador vir ou ouvir algo que ache que pode ser do interesse do
coronel, é melhor que venha me procurar antes; e eu me encarrego de contar
tudo depois.” Ainda lançou um olhar furibundo a Elnora para que não restasse a
menor dúvida e regressou ao escritório, onde o seu sobrinho misturava
cuidadosamente açúcar e água nos dois copos.
Envergando uma jaqueta branca, Simon também fazia as vezes de mordomo
— um pau para toda obra, por assim dizer. Só que não se tratava de pau, mas de
uma prataria tão requintada e branda que algumas das colheres agora estavam
tão finas quanto uma folha de papel ali onde gerações de dedos as haviam
segurado; uma prataria que Joby, o avô de Simon, havia enterrado por um tempo
sob o piso alcalino do estábulo, enquanto Simon, então com três anos e vestindo
apenas um trapo imundo, observava tudo com o sério interesse infantil em uma
brincadeira fascinante.
Um eflúvio de sua ocupação principal sempre agarrava-se a ele, mesmo
quando estava escovado e enfeitado para a igreja e vestia sem muita elegância
uma sobrecasaca descartada por Bayard. Sempre que adentrava a sala de jantar
com os pratos, sempre que se apoiava com desleixo no aparador enquanto
respondia às perguntas abruptas da senhorita Jenny ou prosseguia uma conversa
descosida que ele e Bayard haviam iniciado em algum momento anterior do dia,
esse eflúvio espalhava, sobretudo ao deixar o aposento, uma vaga nostalgia do
estábulo. Nessa noite, porém, limitou-se a trazer os pratos e os servir,
recolhendo-se em seguida à cozinha: Simon dera-se conta de que, mais uma vez,
havia falado demais.
Com um xale branco de lã nos ombros para protegê-la da friagem do
anoitecer, a senhorita Jenny monopolizava a conversa, submergindo a si mesma
e ao sobrinho em uma abundância de trivialidades — episódios irrelevantes,
disse-me-disse e fofocas –, uma atitude que não se coadunava em nada com sua
índole. Ela tinha suas opiniões e costumava expressá-las com vigor e um humor
selvagem, mas raramente se rebaixava a falar de mexericos. Bayard, por sua vez,
encerrara-se na torre fortificada da surdez, erguendo a ponte levadiça e baixando
a grade de ferro, refugiando-se ali onde era impossível saber se ouvia ou não os
outros, enquanto seu ser corpóreo jantava calmamente.
Logo que terminaram de comer, a senhorita Jenny fez soar o sininho de prata
que ficava ao lado de sua mão, Simon abriu a porta da copa e voltou a sentir o
gélido desagrado dela, então fechou a porta e ficou ali à espreita até que
deixassem a sala.
No escritório, Bayard acendeu o charuto e a senhorita Jenny o seguiu,
arrastando a cadeira para junto da mesa sob a lâmpada e abrindo o jornal diário
de Memphis. Ela apreciava a humanidade em suas mutações mais pitorescas,
preferindo a vivacidade de uma fantasia ao fato acinzentado mais impecável, por
isso assinava a folha vespertina mais escandalosa, mesmo que só lhe chegasse às
mãos no dia seguinte, e lia com implacável avidez relatos de incêndios
criminosos, assassinatos, atos dissolutos e adultérios; e logo mais a cena
americana iria lhe proporcionar muita diversão sob a forma de guerras de
traficantes de bebidas alcoólicas, mas este momento ainda não chegara.
Fumando o charuto, o sobrinho acomodara-se além do suave círculo de luz
projetado pela lâmpada, os pés apoiados na borda da lareira, ali onde as suas
solas, assim como antes dele as solas de John Sartoris, haviam há muito
desgastado o verniz. Ele não estava lendo, e de tempos em tempos a senhorita
Jenny lançava-lhe um olhar por sobre os óculos e a borda superior do jornal.
Depois retomava sua leitura, e não se ouvia nada na sala além do farfalhar
esporádico do papel.
Pouco depois ele se levantou, num de seus característicos movimentos
abruptos, e ela o observou cruzar o aposento e sair batendo a porta. Ela
continuou a ler mais um pouco, mas acompanhando com atenção o andar pesado
dele no vestíbulo, e quando deixou de ouvi-lo, levantou-se, pôs de lado o jornal e
o seguiu até a porta da frente da casa.
A lua despontara além da escura muralha oriental da serra e brilhava pouco
enfática sobre o vale, elevando-se como um balão infantil atrás dos carvalhos e
das alfarrobeiras que ladeavam o caminho de entrada. Sob o luar, Bayard sentara
com os pés apoiados no parapeito da varanda. O charuto reluzia
intermitentemente, e o estridular monótono dos grilos erguia-se da relva ao lado,
assim como mais longe, desde as árvores, o coaxar feérico de sapos jovens
elevava-se como incontáveis bolhinhas prateadas. Um ligeiro e vago odor de
alfarrobeira pairava no ar, intangível como anéis de fumo evanescentes, e dos
fundos da casa, de dentro do vestíbulo escuro, a voz de Elnora flutuava em tom
menor e desprovido de sentido.
A senhorita Jenny avançou tateando pelas trevas diante da porta e, junto da
obscuridade hiante e menos densa do espelho, tirou do cabide o chapéu de
Bayard e o levou ao sobrinho, colocando-o em sua mão.
“Não fique muito aí fora. Ainda não estamos no verão.”
Ele resmungou algo incompreensível, mas pôs o chapéu na cabeça, e ela
virou-se e retornou ao escritório, onde acabou de ler o jornal e o colocou
dobrado sobre a mesa. Depois, apagou a luz com um estalido e subiu os degraus
escuros até o seu quarto. Dali de cima, a lua brilhava sobre as árvores e
derramava-se em largas faixas prateadas através das janelas viradas para o Leste.
Antes de acender a luz, ela seguiu até a parede que dava para o Sul e ali abriu
uma janela, sobre os grilos e as rãs e, em alguma parte, um sabiá. Diante da
janela havia uma magnólia, mas esta ainda não estava florida, tampouco a
madressilva aglomerada ao longo da cerca do jardim. Mas não iria demorar
muito, e dali de cima era possível abarcar todo o jardim, distinguir as gardênias,
os lilases e os acantos em botão sob o luar, que recaía sobre o sono bronzeado
deles e sobre os outros brotos e enxertos originários dos longínquos jardins da
Carolina que conhecera na infância.
Logo além do canto da casa, desde a cozinha invisível, a voz de Elnora
brotava em uma suspensão langorosa e cadente. “Toda essa gente que fala no céu
acaba bem longe dali”, cantava Elnora, e então ela e Simon saíram ao luar e
seguiram na direção do barraco dele, logo abaixo do estábulo. Simon acendera
afinal o charuto, deixando atrás de si um rastro evanescente e fedorento. Mas
quando haviam sumido, aquela pungência malcheirosa ainda parecia pairar ao
lado dos arbustos de lilases ao lado da cerca do jardim e atravessar o luar
intermitente em direção à varanda. Seu neto não usava chapéu e se aproximou e
subiu os degraus e ficou parado ali, com o luar ressaltando os planos angulosos
de seu rosto, enquanto o avô, ainda com o charuto apagado entre os dedos, o
fitava.
“Bayard, filho?”, exclamou o Bayard Velho. O jovem Bayard permaneceu
imóvel sob o luar. As órbitas de seus olhos eram sombras cavernosas.
“Tentei impedir que subisse naquele maldito teco-teco”, disse o jovem por
fim com ferocidade muito remoída. Então voltou a se mexer, e o Bayard Velho
baixou os pés, mas o neto apenas arrastou uma cadeira com violência para o lado
e se atirou nela. Seus movimentos também eram abruptos, como os do avô, mas
controlados e fluidos apesar de todo o ímpeto.
“Por que diabos não me avisou que estava para chegar?”, exigiu o Bayard
Velho. “O que você está pensando, esgueirando-se aqui desse jeito?”
“Não avisei ninguém.”
O jovem Bayard tirou um cigarro do bolso e riscou um fósforo no sapato.
“O quê?”
“Não disse a ninguém que estava chegando”, repetiu, acima do fósforo
abrigado entre as mãos, elevando a voz.
“Simon sabia. Agora você fala de seus movimentos para os criados negros e
não diz nada ao seu próprio avô?”
“Dane-se o Simon, senhor”, gritou o jovem Bayard. “Quem mandou ele ficar
me vigiando?”
“Não grite comigo, rapaz”, berrou de volta o Bayard Velho. O neto atirou
longe o fósforo e fumou o cigarro com tragadas fundas e nervosas. “Cuidado
para não acordar a Jenny”, acrescentou mais calmo o Bayard Velho,
aproximando um fósforo do charuto frio. “Tudo bem com você?”
Seu charuto estava apagado, e ele se moveu e tirou um palito de fósforo do
colete e o reacendeu e voltou a apoiar os pés no parapeito, e mais uma vez o
cheiro acre e volúvel do tabaco evolou-se nas correntes imóveis do ar prateado,
dispersando-se e esvaindo-se entre o aroma das alfarrobeiras e a incessante
reiteração feérica de grilos e rãs. Havia um sabiá em algum lugar no vale e,
pouco depois, outro começou a cantar na magnólia junto à cerca do jardim. Um
automóvel passou pela estrada lisa do vale, reduzindo a velocidade ao cruzar a
linha do trem, e em seguida acelerou. Antes que o ruído dele tivesse
desaparecido, ouviu-se o apito do trem das nove e meia descendo pelas encostas.
Dois longos silvos com ecos insistentes, seguidos por outros dois mais
breves, mas antes que surgisse o trem, o charuto se apagou de novo e ele ficou
sentado segurando-o entre os dedos enquanto acompanhava a locomotiva
arrastar sua fieira de janelas amareladas pelo vale e outra vez subir a serra, onde
pouco depois apitou de novo, arrogante, ressonante e melancólica. John Sartoris
havia sentado naquela mesma varanda e observado seus dois trens diários
despontarem entre os morros e cruzarem o vale até a serra, com luzes e fumaça e
uma simulação ruidosa de velocidade. Mas agora a ferrovia pertencia a uma
corporação e mais do que dois trens circulavam por ela entre o lago Michigan e
o golfo do México, completando seu sonho, enquanto John Sartoris dormia entre
querubins marciais e a ociosa vanglória de seja qual for o Deus cujo
reconhecimento ele não desdenhou.
O charuto do Bayard Velho voltou a se apagar. Ficou sentado com o charuto
frio entre os dedos e viu uma silhueta alta emergir do som dos grilos e das rãs no
ar prateado, mesclado e inextricavelmente fundido à cadência agonizante da voz
de Elnora: “Toda essa gente que fala no céu acaba bem longe dali”.
“O céu todo cheio de massas de nuvens, e qualquer idiota teria percebido que
do lado deles estaria cheio de Fokkers que podiam chegar a vinte e cinco mil
pés, e ele naquela porcaria de Camel. Mas ele encasquetou de ir até esse lugar,
perto de Lille. Não consegui impedir. Ele atirou em mim”, contou o jovem
Bayard, “tentei forçá-lo a voltar mas ele disparou uma rajada na minha direção.
Já estava na altura máxima a que podia chegar, e eles deviam estar cinco mil pés
acima de nós. Caíram todos em cima dele. E o encurralaram como um maldito
bezerro num cercado enquanto um deles o perseguiu pela cauda até que fosse
alvejado e saltasse. Em seguida voltaram correndo para a base.” O cheiro da
alfarrobeira espraiava-se forte pelo ar parado, em meio ao coaxar oscilante e
argênteo das rãs. Da magnólia no canto da casa veio o canto do sabiá; e mais
adiante, no vale, outro logo respondeu.
“Voltou disparado para casa, com o resto da quadrilha”, continuou o jovem
Bayard, “ele e sua caveira com ossos cruzados. Era o Ploeckner”, acrescentou,
com a voz calma, intocada por qualquer orgulho justificado. “Um dos melhores
que tinham. Aluno do Richthofen.”
“Bem, menos mal”, concordou a senhorita Jenny, afagando-o na cabeça.
O jovem Bayard ficou remoendo seus pensamentos.
“Eu tentei impedir que voasse naquele maldito teco-teco”, exclamou de
novo.
“O que você esperava, do jeito que o criou?”, indagou a senhorita Jenny.
“Você é o mais velho... Já passou pelo cemitério, não é?”
“Passei, sim”, respondeu ele em voz baixa.
“O que houve?”, perguntou o Bayard Velho.
“Aquele velho besta do Simon disse que é lá que você estava... Agora venha
e coma algo”, disse ela animada e firme, entrando de novo na vida dele sem
pedir permissão, retomando-lhe os fios emaranhados com seu jeito enérgico e
competente, e ele se ergueu obediente.
“O que houve?”, repetiu o Bayard Velho.
“Aqui”, disse o jovem Bayard, estendendo a mão, “deixe que eu seguro. Vai
acabar queimando o bigode.” Mas o Bayard Velho o repeliu incisivamente e
sugou teimosa e impotentemente o charuto, com o fósforo entre os dedos pouco
firmes.
“E então, tudo bem com você?”, repetiu.
“Por que não estaria?”, replicou o jovem Bayard. “É preciso ser quase tão
idiota para ser ferido na guerra como em tempo de paz. Um completo idiota, isso
sim.” Deu outra tragada no cigarro e então o lançou para longe, ainda pela
metade, na direção do fósforo. “Teve um que levei quatro dias para pegar. Tive
que botar Sibleigh em um velho AK. W., que é como uma caixa velha, para que
servisse de isca. Ele só se interessava por carne fria, aquele lá, com sua caveira e
ossos. Bem, teve o que merecia. Fiquei em cima dele a seis mil pés e
descarreguei um cartucho todo na carlinga dele. Dava para cobrir todos os furos
com seu chapéu. Mas o miserável simplesmente não pegava fogo.” Sua voz se
ergueu outra vez enquanto falava. O aroma das alfarrobeiras espraiava-se em
lufadas adocicadas, e o som dos grilos e das rãs era nítido e monótono como uma
flauta soprada modorrentamente por um menino idiota.
De sua redoma prateada, a lua lançava seu olhar sobre o vale que se dissolvia
em opalina tranquilidade na serena e misteriosa infinitude dos montes, e a voz do
jovem Bayard prosseguia sem cessar, relatando a violência e a velocidade e a
morte.
“Mais baixo”, disse o Bayard Velho outra vez. “Assim você vai acordar a
Jenny.” E a voz do neto diminuiu obedientemente, mas logo voltou a subir e,
depois de um tempo, a senhorita Jenny com o xale branco de lã sobre a camisola
surgiu e se aproximou e o beijou.
“Imagino que você esteja bem”, disse ela, “senão não estaria com esse mau
humor. Conte-nos o que aconteceu com Johnny.”
“Ele estava bêbado”, respondeu com rispidez o jovem Bayard, “ou era uma
besta. Tentei impedir que voasse naquele maldito Camel. Não dava para
enxergar um palmo além do nariz naquela manhã.”
“E você também venha para dentro.” A senhorita Jenny o incluiu igualmente
na órbita de sua vontade como alguém recolhendo de passagem uma peça de
roupa sobre uma cadeira. “Já é hora de você estar na cama.” Os dois a seguiram
até a cozinha e esperaram enquanto ela vasculhava a geladeira e colocava
comida e uma jarra com leite sobre a mesa, puxando em seguida uma cadeira.
“Prepare um grogue para ele, Jenny”, propôs o Bayard Velho. Mas a ideia foi
imediatamente vetada pela senhorita Jenny.
“Leite é do que ele precisa. Imagino que nessa guerra ele entornou uísque
suficiente para ficar um bom tempo sem beber. Bayard jamais vinha para casa da
guerra sem que sentisse vontade de subir com o cavalo pela escadaria da frente e
cavalgar dentro de casa. Agora vamos”, e ela conduziu o Bayard Velho com
firmeza para fora da cozinha até o andar de cima. “Agora vá dormir, entendeu?
Deixe-o sozinho por enquanto.” Após certificar-se de que ele fechara a porta, foi
ao quarto do jovem Bayard e arrumou a cama e, pouco depois, já em seu quarto,
ouviu quando ele subiu pela escada.
O quarto dele era traiçoeiramente iluminado pela lua; sem acender a luz,
entrou e sentou-se na cama. Do outro lado das janelas, os grilos e as rãs
intermináveis, como se os raios lunares fossem vidro fino arremessado entre as
árvores e os arbustos, rompendo-se em um chuvisco melodioso e evanescente
sobre o chão; e acima disso, com um tom grave e timbroso, a respiração ritmada
da bomba na usina elétrica além do estábulo.
Tirou outro cigarro do bolso e o acendeu. Mas deu apenas duas tragadas
antes de atirá-lo longe. Então sentou-se quieto no quarto que ele e John haviam
partilhado durante o ímpeto jovem e viril de sua existência de gêmeos, na cama
em que ele e sua mulher haviam dormido na derradeira noite de sua licença, na
véspera de seu retorno à Inglaterra e de lá à frente de combate, onde estava John.
Ao seu lado no travesseiro o torvelinho cor de bronze do cabelo dela estava
calmo na escuridão, e ela segurou-lhe o braço contra o peito com ambas as mãos
enquanto conversavam aos sussurros, sensatamente por fim.
Mas ele não estivera pensando nela então. Quando pensava nela, ali
estendida rígida ao seu lado na escuridão, segurando-lhe o braço com força junto
ao peito, era apenas para se sentir um pouco furiosamente envergonhado da
desconsideração com que a tratara. Na verdade, estava pensando no irmão, a
quem não vira em mais de um ano, pensando que em um mês iria vê-lo de novo.
Tampouco estava ele pensando nela agora, ainda que as paredes guardassem,
como uma flor murcha em um escrínio, algo daquele caos mágico no qual
haviam vivido durante dois meses, trágico e efêmero como uma florada de
madressilva e pungente como o aroma de hortelã. Estava pensando no irmão
morto; o espírito de seus violentos dias complementares jazia como poeira por
todo o quarto, obliterando aquela outra presença, interrompendo sua respiração,
e ele foi até a janela e a abriu com tanta força que ela bateu no caixilho, e se
debruçou, inspirando ar em seus pulmões como um homem que estivera
submerso e ainda não acreditava ter retornado à superfície.
Mais tarde, deitado nu entre os lençóis, acordou com os próprios gemidos.
Agora havia no quarto uma luz cinzenta, gélida e de origem vaga, e ao virar a
cabeça viu a senhorita Jenny, com o xale nos ombros, sentada em uma poltrona
ao lado da cama.
“O que houve?”, perguntou ele.
“É o que eu gostaria de saber”, respondeu a senhorita Jenny. “Você está
fazendo mais barulho do que a bomba d’água.”
“Quero uma bebida.”
A senhorita Jenny inclinou-se e ergueu um copo que estava no chão.
Bayard ergueu-se, apoiou-se no cotovelo e agarrou o copo. A mão se deteve
antes que o copo alcançasse a boca, e ele ficou debruçado, com o copo sob o
nariz.
“Maldição”, exclamou, “eu disse bebida.”
“Beba o leite, meu rapaz”, ordenou a senhorita Jenny. “Você acha que vou
ficar acordada a noite toda só para te trazer uísque? Vamos, beba tudo, agora.”
Ele esvaziou obedientemente o copo e reclinou-se. A senhorita Jenny
recolocou o copo no chão.
“Que horas são?”
“Silêncio”, disse ela, pondo em seguida a mão sobre a testa dele.
“Volte a dormir.”
Ele virou a cabeça no travesseiro, mas não conseguiu escapar à mão dela.
“Agora vá”, disse ele. “Deixe-me sozinho.”
“Silêncio”, disse a senhorita Jenny. “Volte a dormir.”
PARTE DOIS
1.
“Ninguém inda plantou nada do que devia ter plantado”, falou Simon.
Sentado no degrau mais baixo da escada, ele afiava com a lima a lâmina de
uma enxada. Junto da visitante, a senhorita Jenny estava na beira da varanda,
acima dele, com chapéu de feltro masculino e luvas de trabalho. Uma tesoura
grande balançava abaixo de sua cintura, reluzindo à luz do sol matinal.
“E isso é da conta de quem?”, perguntou ela. “De você, ou do coronel? Tanto
você como ele ficam aí à toa nesta varanda, me dizendo onde uma planta vai se
dar melhor ou ficar mais bonita, mas se algum dos dois alguma vez já cultivou
algo, uma erva daninha que fosse, isto eu nunca vi. Não dou dois tostões furados
pelo lugar onde você ou o coronel acham que uma flor deva ser plantada: as
minhas flores vão ficar exatamente onde quero que sejam plantadas.”
“E aí elas nem se atreve a brotar”, acrescentou Simon. “Sempre é assim com
os jardim feito pela sinhá e pelo Isom. Graça a Deus que Isom não tem de ganhar
a vida com a jardinagem que aprende por aqui.” Ainda afiando a lâmina da
enxada, virou de repente a cabeça para o canto da casa.
Simon usava um chapéu deplorável, de um pano que após tantos anos
perdera toda característica. Impassível, a senhorita Jenny fitava desde o alto esse
chapéu.
“Isom ganhou a vida ao nascer preto”, retorquiu asperamente a senhorita
Jenny. “E que tal se você deixasse de raspar essa enxada e se atrevesse a arrancar
um pouco das ervas no canteiro das sálvias?”
“Tenho de deixá um fio nessa rascadeira”, replicou Simon. “A sinhá pode ir
lá cuidar do jardim, deixa que eu limpo o canteiro.” Ele raspava sem parar a
lâmina da enxada.
“Você está fazendo isto há tanto tempo que já devia ter percebido que não vai
conseguir gastar a lâmina até o cabo só com essa lima”, disse a senhorita Jenny.
“Você está nisto desde o café da manhã. Eu ouvi. Agora, de qualquer modo, é
melhor você ir para um lugar onde as pessoas que passarem imaginem que você
está fazendo algo de útil.”
Simon gemeu desolado e levou meio minuto para pôr de lado a lima.
Primeiro colocou-a em um degrau e então mudou para o outro.
Em seguida, ele a apoiou no degrau às suas costas. Passou o dedão pela
lâmina, examinando-a com morosa esperança.
“Talvez teje boa agora”, falou. “Mas vai ser como capinar com uma rasca…”
“Tente assim mesmo”, atalhou a senhorita Jenny. “Talvez as ervas achem que
é uma enxada. Não custa nada dar uma oportunidade a elas.”
“Eu vou, eu vou”, Simon respondeu rabugento, levantando-se e afastando-se
claudicante. “A sinhá vai e cuida daquilo lá; eu cuido disso aqui.”
A senhorita Jenny e a visita desceram os degraus e foram até o canto da casa.
“Não entendo por que ele fica sentado ali, afiando a enxada nova com uma
lima, em vez de arrancar o mato no canteiro de sálvia”, comentou a senhorita
Jenny. “Mas é isso o que ele faria. Continuaria ali, raspando aquela enxada até
que ficasse parecendo uma lâmina de serrote, se eu não falasse nada. Três ou
quatro anos atrás, Bayard comprou um cortador de grama — sabe-se lá para quê
— e o entregou a Simon. Tinha garantia de um ano, dada pelo pessoal que o
fabricou. Mas eles não conheciam o Simon. Muitas vezes me ocorreu, lendo no
jornal a respeito daquela devastação e coisas assim no ano passado, que Simon
iria se divertir muito se tivesse ido à guerra. Ele teria ensinado a eles coisas
sobre destruição que jamais poderiam imaginar.”
“Isom!”, gritou.
Estavam entrando no jardim e a senhorita Jenny parou junto ao portão.
“Ei, Isom!”
Dessa vez houve uma resposta e a senhorita Jenny seguiu adiante com a
visita e Isom, que se arrastava preguiçosamente vindo de alguma parte e fechou
o portão com um clique após entrar.
“Por que você não...”, a senhorita Jenny voltou a cabeça para trás e estacou,
contemplando a figura repentinamente militar de Isom com um súbito e
impassível assombro. Ele estava de uniforme cáqui, com a insígnia divisionária
no ombro e uma divisa ensebada no punho. Seu magro pescoço de dezesseis
anos elevava-se do aperto frouxo do colarinho enxovalhado e via-se uma
surpreendente extensão de pulso abaixo dos punhos. Os culotes sobravam
irremediavelmente acima da amarração incompetente das grevas que, seja com
refinado senso para o singular, seja com desatento desprezo pela praxe militar,
ele vestira antes dos sapatos, enquanto a imunda casquete d’além-mar cobria
lamentavelmente seu crânio ogival.
“Onde arrumou esse uniforme?” Os raios do sol reluziam na tesoura da
senhorita Jenny, e a senhorita Benbow, de vestido branco e chapéu de palha
mole, também se virou e o contemplou com uma expressão estranha.
“É do Caspey”, respondeu Isom. “Peguei emprestado.”
“Caspey?”, repetiu a senhorita Jenny. “Ele já chegou?”
“Sim senhora. Chegou ontem de noite, no trem das nove e meia.”
“Ontem à noite, é mesmo? E onde está agora? Dormindo, não é?”
“Sim senhora. É o que tava fazendo quando saí de casa.”
“E imagino que foi assim que você pegou emprestado o uniforme dele”,
comentou ironicamente a senhorita Jenny. “Bem, deixa ele dormir esta manhã.
Que tenha um dia para se recuperar da guerra. Mas se a guerra fez dele outro
idiota como o Bayard, então faria melhor se vestisse isso de novo e voltasse para
lá. Cada vez mais acho que os homens não são de nada.” Ela seguiu adiante,
acompanhada pela convidada em seu despojado vestido branco.
“A senhora é dura demais com os homens, mas não tem um mari do com que
se preocupar”, comentou ela. “Além do mais, está julgando todos os homens de
acordo com os seus Sartoris.”
“Eles não são os meus Sartoris”, negou prontamente a senhorita Jenny,
“apenas os recebi de herança. Mas você logo vai ver: você também vai ter o seu
para se preocupar; espere só o Horace voltar para casa, aí você vai ver o quanto
ele vai levar para se recuperar. Os homens não aguentam nada”, repetiu ela.
“Nem mesmo conseguem fazer suas loucuras sem nenhuma preocupação,
responsabilidade ou limite para toda a maldade que podem imaginar querer
fazer. Você acha que um homem podia sentar dia após dia e mês após mês em
uma casa a quilômetros de qualquer lugar e passar o tempo, em meio a listas de
baixas na guerra, rasgando lençóis e cortinas e toalhas para fazer ataduras, e
vendo o açúcar e a farinha e a carne chegando ao fim, e queimando nós de pinho
como iluminação porque não há mais velas nem castiçais onde colocá-las, se
houvesse alguma, e se escondendo em barracos de negros enquanto generais
ianques embriagados ateavam fogo à casa que seu trisavô havia construído e na
qual você e todos os seus parentes haviam nascido? Que ninguém venha me falar
do sofrimento dos homens na guerra.” A senhorita Jenny cortava os delfínios
com ferocidade. “Espere até Horace voltar para casa, aí você vai ver. É só uma
boa desculpa para que virem esses estorvos e fiquem atrapalhando enquanto as
mulheres da família tentam arrumar a bagunça que deixaram com suas lutas.
Pelo menos John teve a consideração, depois de ter partido e se metido em algo
que não lhe dizia respeito, de não voltar e torrar a paciência da gente. E agora o
Bayard, voltando no meio da guerra e fazendo com que todo mundo achasse que
iria afinal se acomodar, dando aulas na escola de aviação em Memphis e depois
casando com aquela garota sonsa.”
“Senhorita Jenny!”
“Bem, não falo por mal, mas bem que ela merecia uma boa sova. Eu sei:
afinal, não fiz exatamente a mesma coisa? Eram todos aqueles apetrechos
militares que Bayard usava. E dizem que os homens ficam bobos por causa de
uma farda!” Continuou a podar os delfínios. “E me arrastaram até o casamento,
note bem, em uma igreja repleta de espadas alugadas e com alguns dos alunos de
Bayard tentando lançar rosas sobre eles quando saíram. Acho que alguns nem
eram alunos, pois um deles conseguiu afinal lançar um punhado que acabou na
rua, longe de tudo.” Ela continuou a podar vigorosamente os delfínios.
“Jantei com eles uma noite. Fiquei esperando uma hora no hotel, até que se
lembrassem de me buscar. Depois fomos a uma mercearia, e Bayard e Caroline
desceram, entraram lá e voltaram com um monte de pacotes e os jogaram no
carro, onde acabaram sujando de gordura minhas meias novas. E este foi o jantar
para o qual fui convidada, veja bem; não havia nada que parecesse ou cheirasse
como um fogão no lugar. Não me ofereci para ajudá-los. Disse a Caroline que
não sabia absolutamente nada sobre aquele tipo de jantar pois os meus parentes
eram antiquados o bastante para preparar o que comiam.
“Aí chegaram… alguns dos amigos militares de Bayard, e um bando de
mulheres de outros, até onde pude entender. Mulheres que deveriam ter ficado
em casa, cuidando do jantar, e que não paravam de falar e guinchar daquele jeito
tolo que têm as jovens casadas quando fazem algo que esperam não seja do
agrado dos maridos. Estavam todas desembrulhando garrafas — cerca de duas
dúzias, acho –, quando Bayard e Caroline chegaram com os talheres de prata que
lhes dei de presente e os guardanapos com monogramas e aquela gororoba da
mercearia que tinha um gosto horrível, ainda por cima servida em pratos de
papel. E comemos ali mesmo, sentados no chão ou em pé, ou onde quer que
estivéssemos.
“Era essa a ideia que Caroline fazia de como cuidar de uma casa. Ela dizia
que iria se acomodar quando ficasse mais velha, se a guerra tivesse acabado. Por
volta de trinta e cinco, acho que queria dizer. Magra como um poste; não haveria
muito o que surrar. Mas que merecia uma sova, bem que merecia. Assim que
soube do bebê, já lhe deu um nome. Ela o batizou nove meses antes que nascesse
e contou a todo o mundo. E costumava conversar com ele como se fosse seu avô
ou algo assim. Sempre dizendo que Bayard não vai me deixar fazer isto ou
aquilo ou não sei o que mais.”
A senhorita Jenny continuou a cortar os delfínios e, a seu lado, a visitante
estava empertigada de vestido branco. A requintada e imensa simplicidade da
casa erguia-se por entre as árvores que se adensavam, o jardim reverberando ao
sol os seus brotos, exalando uma miríade de aromas, em meio ao modorrento
zumbido de abelhas, um som dourado constante, como se de raios solares
tornados audíveis — todo o intangível véu do imediato, do familiar; e logo atrás,
uma jovem com um torvelinho brônzeo de cabelos e um corpo pequeno e
flexível em constante irrequietação epicena, em equilíbrio dinâmico como a de
uma assexuada figura esculpida, surpreendida em uma ação ou esforço, um
mecanismo cujos membros todos se movem no gesto mais trivial, suas mãos
veementes sem serem acusadoras, passionalmente imóveis além do véu
impalpável, mas suficiente.
A senhorita Jenny debruçou-se sobre o canteiro de flores, suas costas
estreitas, ainda eretas e indômitas mesmo curvadas. Um sabiá faiscou
recatadamente no ar brilhante e desapareceu em uma magnólia, desenhando uma
parábola quase completa. “E aí, quando ele teve de voltar para a guerra, é claro
que a deixou aqui, nas minhas mãos.”
A visitante ficou parada em seu vestido branco, e a senhorita Jenny se
corrigiu: “Não, não é isso o que quero dizer.” E podou outros delfínios.
“Pobres de nós, mulheres”, prosseguiu. “Imagino que só nos resta buscar
nossa vingança sempre que possível. Só que ela deveria ter se vingado no
Bayard.”
“Quando ela morreu”, disse Narcissa, “ele não tinha como ficar sabendo,
mas, caso soubesse, tampouco poderia voltar para ela.
Como a senhora pode dizer isto?”
“Bayard amando alguém, com aquele coração de pedra?” A senhorita Jenny
podou outros delfínios. “Ele nunca deu a mínima para ninguém na vida, a não
ser para o John.” E voltou a cortar furiosamente os delfínios. “Pavoneando-se
por aqui como se fosse nossa culpa, como se os tivéssemos obrigado a ir para a
guerra. E agora ele tem de ter um automóvel, tem de ir até Memphis para
comprar um carro Um automóvel no estábulo de Bayard Sartoris, imagine!, de
alguém que nem mesmo empresta o dinheiro do banco para quem tem carro...
Quer um pouco de ervilha-de-cheiro?”
“Quero, sim, por favor”, respondeu Narcissa. A senhorita Jenny se aprumou
e ficou absolutamente imóvel.
“Dê uma olhada nisso, ali...”, e apontou com a tesoura. “É assim que eles
sofrem com a guerra, os coitadinhos.” Mais adiante de um canteiro de ervilhas-
de-cheiro, Isom marchava solenemente de um lado para o outro em sua farda.
No ombro direito apoiava uma enxada e seu rosto deixava transparecer uma
concentração extasiada, e ao fazer meia-volta no final de seu trajeto murmurou
algo para si mesmo em uma cantilena ritmada.
“Ei, Isom!”, gritou a senhorita Jenny.
Ele se deteve no meio de um passo, ainda com a enxada no ombro.
“Sinhá?”, respondeu debilmente. Enquanto a senhorita Jenny continuou a
transfixá-lo com o olhar, sua postura militar foi se esvaindo, ele baixou a
ferramenta e realizou uma espécie de movimento de recuo no interior de seu
manto marcial.
“Deixe de lado essa enxada e traga para cá aquele cesto. Essa é a primeira
vez em sua vida que você pegou, por iniciativa própria, uma ferramenta de
jardim. Gostaria de descobrir que tipo de uniforme o levaria a cavar a terra; era
isso o que eu precisava comprar para você.”
“Sim senhora.”
“Se quiser brincar de soldado, vá com o Bayard para algum outro lado. Posso
muito bem cuidar das minhas flores sem qualquer ajuda do exército”,
acrescentou ela, voltando-se para a visitante com um maço de delfínios. “Do que
você está rindo?”, indagou ela.
“Vocês dois são muito engraçados”, explicou a jovem. “A senhora parecia
muito mais um soldado do que o pobre Isom, mesmo de uniforme.” Então tocou
os olhos com as pontas dos dedos. “Desculpe-me; por favor, perdoe-me pelo
riso.”
“Humpf”, fungou a senhorita Jenny. Pôs os delfínios no cesto e depois
passou às ervilhas-de-cheiro, cortando-as obsessivamente. A visitante a seguiu,
assim como Isom com o cesto; por fim a senhorita Jenny terminou com as
ervilhas-de-cheiro e seguiu em frente com suas coisas, parando para cortar uma
rosa aqui e ali, até chegar a um canteiro onde tulipas erguiam as reluzentes
campânulas invertidas. Ela e Isom haviam acertado dessa vez: as diversas cores
agora se dispunham segundo um padrão regular.
“Quando as plantamos no outono passado”, contou à visitante, “coloquei
uma vermelha na mão direita de Isom e uma amarela na esquerda. Depois disse:
‘Tudo bem, Isom, agora me passe a vermelha’. Ele sempre estendia a mão
esquerda, e era só eu fitá-lo por um tempo para que estendesse também a outra
mão. ‘Mas não falei para você segurar a vermelha na mão direita?’, insistia. ‘Sim
senhora, tá aqui’, e lá vinha ele com a mão esquerda de novo. ‘Essa não é a
direita, seu tonto’, dizia eu. ‘Essa é a que a senhora disse que é a direita pouco
tempo atrás’, respondia ele. Não é verdade, moleque?” A senhorita Jenny voltou
a fulminar Isom com o olhar, que de novo fez seu movimento depreciativo,
recuando atrás da compostura morosa de seu sorriso.
“Sim senhora, acho que sim.”
“É bom mesmo que ache”, retorquiu a senhorita Jenny com um tom de
ameaça. “Agora me diga, como alguém pode ter um jardim decente, com um
idiota como esse? Toda primavera espero encontrar um pé de milho ou de feno
nos canteiros de jacinto ou algo assim.” Voltou a examinar as tulipas, avaliando
mentalmente o equilíbrio das cores. “Não, você não quer nenhuma tulipa”,
decidiu afinal, seguindo adiante.
“De fato, não quero, senhorita Jenny”, concordou recatadamente a visitante.
Seguiram até o portão e lá a senhorita Jenny parou e tomou a cesta das mãos
de Isom.
“Agora vá para casa e tire essa roupa, está entendendo?”
“Sim senhora.”
“E daqui a pouco vou olhar por aquela janela e quero ver você de volta ao
jardim com aquela enxada”, acrescentou. “E quero ver você usando ambas as
mãos dessa vez, e quero ver a enxada se mexendo também. Está entendendo?”
“Sim senhora.”
“E diga a Caspey para se preparar para voltar ao trabalho amanhã cedo. Até
mesmo os negros que se fartam por aqui têm que trabalhar um pouco.” Mas
Isom já se afastara, e elas seguiram em frente e subiram para a varanda. “Não
parece que ele vai fazer direitinho o que mandaram?”, confidenciou ela ao
entrarem no vestíbulo. “Tanto quanto eu, ele sabe muito bem que, depois do que
disse, não vou ter coragem de espiar por aquela janela. Venha, entre”,
acrescentou, abrindo as portas da sala de visitas.
Essa sala agora era aberta só de vez em quando, embora na época de John
Sartoris fosse constantemente usada. Ele sempre dava jantares e, de quando em
quando, também bailes, ocasiões em que se abriam as portas duplas que a
separavam da sala de jantar, três negros tocavam instrumentos de corda na
escadaria e todas as velas eram acesas, rodeando-se assim de um aparato de
cores e perfumes e música em meio ao qual se movia com sua arrogância franca
e jovial.
Também foi velado à noite nessa mesma sala, em seu uniforme regimental
cinzento, e assim levou a uma conclusão o variado, ainda que nem sempre
impecável, espetáculo de sua própria trajetória, contemplando pela derradeira
ocasião a própria apoteose desde a aprazível brandura de seu lar opulento.
Na época de seu filho, porém, a sala passou a ser cada vez menos
aproveitada, e lenta e imperceptivelmente foi perdendo sua virilidade jovial mas
imponente, tornando-se por consenso geral um lugar que a sua esposa, a esposa
de seu filho John e a senhorita Jenny submetiam a uma limpeza completa duas
vezes ao ano, e no qual, precedido pelo ritual de remoção das capas de holanda
parda, recebiam as visitas mais formais. Esta era a sua condição na época do
nascimento dos netos, e assim continuou até a morte de seus pais, e mesmo
além, até a de sua mulher. Depois disso a senhorita Jenny importava-se pouco
com visitas formais e absolutamente nada com aquela sala que, dizia, dava-lhe
arrepios.
E por isso ela permanecia fechada quase que o tempo todo, e pouco a pouco
adquiriu solene e macabra atmosfera bolorenta. Vez por outra, quando pequenos,
Bayard ou John abriam a porta e espiavam a obscuridade solene na qual os
móveis amortalhados avultavam com uma espécie de benevolência
fantasmagórica, como se fossem mastodontes albinos. Mas não entravam ali; já
em seus espíritos a sala estava associada à morte, uma ideia que até mesmo o
azevinho e as lantejoulas da época de Natal não conseguiam afastar por
completo.
Eles estavam longe, em colégios internos, quando chegaram à idade das
festas, mas mesmo nas férias, ainda que tivessem invadido a casa com o tumulto
bem-educado de seus contemporâneos, o aposento era aberto apenas na véspera
de Natal, quando a árvore estava montada e a lareira, acesa, e colocava-se uma
poncheira diante do fogo. E depois que foram para a Inglaterra em 1916, a sala
era arejada duas vezes por ano para ser limpa segundo um ritual que até mesmo
Simon herdara de seus antepassados, e para que fosse afinado o piano, ou ainda
quando a senhorita Jenny e Narcissa ali ficavam no final da manhã ou à tarde,
mas em nenhuma ocasião formal.
A mobília avultava disforme em sua mortalha ruça. Só o piano fora
descoberto, e Narcissa afastou o banquinho e depois tirou o chapéu e o colocou
ao lado. A senhorita Jenny pôs a cesta no chão e, da área de sombra perto do
instrumento, puxou uma cadeira dura de espaldar reto, também descoberta,
sentou-se e tirou o chapéu de feltro de sua impecável cabeça branca. A luz
penetrava pela porta aberta, mas, como as janelas estavam cerradas atrás de
pesadas cortinas de tom vermelho escuro, ela apenas ressaltava a obscuridade,
tornando ainda mais disforme a mobília anônima e encapuzada.
No entanto, por trás dessas massas soturnas e em todos os cantos da sala,
aguardavam, como atores esperando nas coxias ao lado do palco, figuras de
crinolina com vestidos de musselina e seda; de gravatas altas e casacas
flutuantes, cinzentas também, com faixas carmim e sabres embainhados em
repouso galante; o próprio Jeb Stuart, talvez, em seu reluzente cavalo baio com
grinaldas ou com os cabelos ensolarados recaindo sobre a fina casimira sob os
ramos de visgo e azevinho de Baltimore em 1858. A senhorita Jenny sentou-se
com seu inflexível aprumo de granadeiro e, segurando o chapéu sobre os joelhos,
adotou uma postura de espectadora enquanto a visitante tocava acordes no
teclado e levantava a cortina sobre a cena.
Na cozinha, Caspey tomava o café da manhã sob o olhar atento de seu pai
Simon, de sua irmã Elnora e de seu sobrinho Isom (ainda de uniforme). Antes
costumava ajudar o pai no estábulo, e era o faz-tudo na propriedade, encarregado
de todas as tarefas que Simon, com a desculpa capciosa de sua decrepitude e da
gratidão filial, conseguia jogar-lhe sobre os ombros, e que a senhorita Jenny
podia inventar e ele não podia evitar. E, de vez em quando, o Bayard Velho
também o fazia trabalhar nas plantações. Mas aí foi convocado pelo exército e
enviado à França e às docas de Saint-Sulpice, em um batalhão de serviço, onde
cumpria todas as tarefas que os cabos e sargentos conseguiam jogar em cima de
seus ombros pouco marciais, e que os oficiais brancos podiam inventar e ele não
conseguia evitar.
Com isso, todo o trabalho na propriedade recaiu sobre Simon e Isom. A
senhorita Jenny, porém, mantinha Isom ocupado com tantas pequenas coisas pela
casa que Simon logo estava tão amargurado contra os “senhores da guerra”
quanto qualquer democrata militante.
Enquanto isso, Caspey trabalhava um pouco e experimentava a vida no
continente europeu em seus aspectos marciais, um tanto em seu futuro
detrimento, pois afinal acabou a refrega e os capitães partiram, deixando um
vácuo logo preenchido pela amarga brigalhada usual entre os herdeiros do
Armagedom; e Caspey retornou imprestável, em termos sociológicos, a seu país
natal, com irremediável ojeriza pelo trabalho, honesto ou não, e dois ferimentos
honrosos obtidos em um jogo de dados resolvido a navalhadas. Mas teve de
voltar, para o contentamento queixoso de seu pai e a admiração de Elnora e de
Isom, e agora estava ali sentado na cozinha, contando-lhes da guerra.
“Num vou aguentar mais nada dos branco”, dizia. “Com a guerra, isso tudo
mudou. Se a gente, o pessoal de cor, é bom pra salvar a França dos alemão, então
é bom pra ter os mesmo direito dos alemão. Isso é o que pensa o pessoal da
França e, se os Estados Unido num pensa assim, vai ter de aprender na marra.
Sim senhor, foi o soldado de cor que salvou os francês e os americano. Os
regimento negro matou mais alemão que todos os exército branco junto, sem
contar o descarregamento dos navio o dia todo, por um dólar o dia.”
“Bem, com uma coisa a guerra não acabou: com esse seu bocão aí”,
comentou Simon.
“A guerra soltou a boca dos preto”, corrigiu Caspey. “Deu pra ele o direito de
falar. ‘Vão matar os alemão e depois ôceis faz discurso’, eles disseram. Bem, é o
que a gente fez.”
“E quantos você matou, tio Caspey?”, Isom perguntou respeitosamente.
“Nunca tive tento de contar. Teve época que matei mais numa manhã do que
toda a gente desse lugar aqui. Uma vez a gente tava no fundo de um vapor
amarrado no cais, e veio um desses sumarinhos e parou do lado, e todos os
oficial branco correu pro cais pra se esconder. Lá embaixo a gente não tinha
ideia de nada até que eles começou a vir pela escada. Naquele momento a gente
não tinha nenhuma arma e, quando as pernas verde começou a descer pela
escada, aí a gente chegou de mansinho por trás e enquanto eles descia um dos
nosso batia na cabeça deles com um pedaço de pau e outro arrastava e cortava as
garganta com gancho de carne. Era uns trinta... Elnora, tem mais café?”
“Puxa vida”, murmurou Simon. Os olhos de Isom se arregalaram em silêncio
enquanto Elnora pegava o bule no fogão e enchia-lhe a xícara.
Caspey tomou uns goles de café.
“Outra vez eu e um outro tava indo numa estrada. A gente tava de saco cheio
de descarregar aqueles navio o dia todo, por isso um dia o ordenança do capitão
descobriu onde ele guardava os passe de licença e pegou um punhado, e eu e ele
tava na estrada pra vilinha quando passou um caminhão e o cara perguntou se a
gente queria carona. Ele tinha ido na escola e escrevia em três daqueles passe
sempre que tinha um lugar que podia tá infestado de polícia militar e assim a
gente andou de um lado para o outro naquele caminhão particular até que uma
manhã a gente olhou pro lado em que tava o caminhão e um polícia tava sentado
lá enquanto o motorista tentava explicar. Aí a gente deu meia-volta e foi andando
pro outro lado. Depois a gente teve que passar longe dos lugar que tinha polícia,
porque nem eu nem o outro a gente sabia escrever nos passe.
“Um dia a gente tava andando numa estrada. Era uma estrada toda cheia de
buraco de bomba e num tinha nenhum polícia por ali. Mas tinha um punhado
deles na última vilinha que a gente nem entrou, por isso a gente não sabia que
tava tão perto de onde tinha combate até que numa ponte a gente viu um
regimento alemão nadando no rio. Eles viu a gente na mesma hora e
mergulharam na água e aí a gente agarrou duas metralhadora que tava ali e, da
beirada da ponte, toda vez que um alemão botava a cabeça fora pra respirar a
gente mandava bala. Era como atirar em peru no banhado. Acho que matamo
uns cem até acabar as bala das metralhadora. Foi por isso que me deram isso.”
Então ele tirou do bolso uma rebuscada medalha de metal de Porto Rico, e Isom
aproximou-se em silêncio para examiná-la.
“Hum, hum”, resmungou Simon. Estava sentado com as mãos nos joelhos,
olhando para o filho com um assombro embasbacado. Elnora também se
aproximou, os braços sujos de farinha.
“Como eles são?”, perguntou ela. “São como a gente?”
“São bem grandão”, respondeu Caspey. “Mais pro rosado e têm uns oito pé
de altura. Os único soldado em todo lado americano que era páreo pra eles era os
regimento de negro.”
Isom voltou para o canto, perto da caixa de lenha.
“Ô moleque, cê num tem nada pra fazer no jardim, não?”, perguntou Simon.
“Não, sinhô”, respondeu Isom, com o olhar fascinado ainda no tio. “Sinhá
Jenny disse que a gente tinha acabado essa manhã.”
“Olha lá, hein, depois não vem atrás de mim choramingando quando ela vier
pra cima de você”, alertou Simon. “E depois, onde você matou os outro?”,
perguntou ao filho.
“Depois a gente não matou mais ninguém”, contou Caspey. “A gente achou
que já dava pro gasto e era melhor deixar o resto pros outros que tavam
ganhando pra lutar. A gente foi em frente até o caminho acabar num campo. Ali
tinha umas vala e uma cerca velha de arame e um buraco no campo, e tinha um
pessoal acampado ali. Era tudo americano e branco e eles falou pra gente
escolher um buraco e ficar por ali, se a gente tava a fim dum pouco de paz e
folga da guerra. Aí a gente escolheu um buraco seco e ficou por ali. Não tinha
nada pra fazer o dia todo: só deitar na sombra e olhar os balão no ar e ouvir os
tiro a uns seis quilômetro do caminho. O outro que tava comigo teimou que era
caçador de coelho, mas eu sabia que não era nada disso. Como os branco sabia
escrever, eles escreveram nos passe pra gente e assim a gente ficou um tempo
seguindo as tropa e conseguindo comida. Quando os passe acabou a gente
descobriu um lugar onde tava uns soldado francês com canhão, mais adiante
numa mata, e aí a gente foi até lá e matou a fome.
“Foi assim por muito tempo, até que os balão sumiu e os branco disse que
era hora da gente ir embora. Mas eu e o outro, a gente não queria mais ir pra
lugar nenhum e resolveu ficar por ali mesmo. Naquela noite a gente foi até onde
tava os soldado francês, pra pegar mais comida, mas eles também tinha ido
embora. O moleque que tava comigo disse que eles tinha caído na mão dos
alemão, mas a gente não sabia nada nem tinha ouvido nenhuma confusão desde
o outro dia. Então voltamos pro buraco. Não tinha nada pra comer e aí a gente se
enfiou lá dentro, ajeitou as coisa e dormiu aquela noite, e logo cedinho alguém
apareceu no buraco e acordou a gente. Era uma mulher, dessas que ia atrás de
baioneta e fivela dos alemão. Ela gritou, ‘Quem tá aí?’, e o outro disse, ‘Tropa
de assalto’. Aí a gente saiu mas não foi muito longe porque logo apareceu um
caminhão de polícia e os passe tinha acabado.”
“Aí o que você fez?”, perguntou Simon. Os olhos de Isom se arregalaram em
silêncio na penumbra atrás da caixa de madeira.
“Levaram e meteram a gente na cadeia por um tempo. Mas a guerra já tava
quase acabando e precisavam de gente para carregar de volta os navio, por isso
mandaram a gente pra uma cidade chamada Brest... num engulo nada de nenhum
branco, polícia ou não”, afirmou Caspey de novo. “Uma noite a gente tava num
lugar jogando dado. O corneteiro tinha soprado o toque de apagar a luz, mas
aquilo lá é o exército, onde um homem pode fazer o que quiser até alguém
proibir, por isso quando apareceu um polícia e disse ‘Apaga a luz’, um dos
moleques disse ‘Vem aqui que a gente vai apagar é você’. Tinha dois polícia e aí
chutaram a porta e mandaram bala, e alguém arrebentou a luz e a gente saiu
correndo. Na manhã seguinte acharam um dos polícia sem nada pra segurar seu
colarinho, e dois dos moleque também tava morto. Mas num descobriram nada
do resto. E aí a gente voltou pra casa.”
Caspey esvaziou a xícara. “Num engulo mais nada de nenhum branco, nem
de tenente nem de capitão nem de polícia. A guerra mostrou aos branco que eles
precisa do homem de cor. Tão sempre pisando na gente, mas quando tem um
problema, é ‘por favor, sinhô, seu Negro; por ali, onde está tocando o corneteiro,
seu Negro, ocê é o salvador da pátria’. E agora a raça de cor vai colher os
benefício da guerra, e num vai demorar muito.”
“Sei, sei”, murmurou Simon.
“Sim, sinhô. E as mulher também. Saí com uma branquela na França, e vou
arrumar outra por aqui.”
“Deixa eu dizer uma coisa, nego”, disse Simon. “O bom Deus tomou conta
de você por muito tempo, mas agora toma tento, Ele não vai te segurar o tempo
todo.”
“Então vou ter que me virar sem Ele”, retorquiu Caspey, levantando-se e se
espreguiçando. “Acho que vou pra estrada grande e pegar uma carona até a
cidade. Me dá a farda, Isom.”
A senhorita Jenny e sua convidada estavam na varanda quando ele passou ao
lado da casa, na direção do caminho de entrada.
“Lá vai o seu jardineiro”, comentou Narcissa.
A senhorita Jenny olhou.
“Esse é o Caspey”, corrigiu ela. “Aonde você acha que está indo? Aposto um
dólar que é para a cidade”, acrescentou, fitando as costas do uniforme cáqui que
se afastavam vagarosamente, e por meio das quais ele conseguia, de algum
modo, disseminar uma espécie de insolência preguiçosa. “Ei, Caspey!”, chamou
ela.
Ele diminuiu o ritmo ao passar pelo pequeno carro de Narcissa e o examinou
com um descaso indolente demais até mesmo para um sorriso desdenhoso e
continuou pachorrento.
“Ei, Caspey!”, repetiu a senhorita Jenny, agora em tom mais alto. Mas ele
seguiu adiante sem se abalar, descendo pelo caminho, insolente, pachorrento e
vagaroso. “Ele me ouviu”, comentou ela com uma ameaça na voz. “Deixa estar
que ele vai ver quando voltar. De qualquer modo, quem foi a besta que teve a
ideia de colocar nos negros o mesmo uniforme dos brancos? O senhor Vardaman
não cairia nessa; ele disse aos imbecis em Washington que isso não daria certo.
Mas os políticos...!” Em sua boca, o termo inócuo revestia-se de um desprezo
completo e explosivo. “Se algum dia eu me cansar de conviver com gente de
bem, já sei o que fazer: vou me candidatar ao Congresso... Olha eu fazendo
piada de novo. O que estou querendo dizer é que, às vezes, acho que esses
Sartoris e todas as suas coisas só existem para me atormentar e me afligir.
Graças a Deus, não vou ter de conviver com eles depois da morte. Não sei para
onde vão, mas nenhum Sartoris vai ficar no céu mais tempo do que precisa.”
A outra riu. “A senhora parece ter certeza do lugar para onde vai.”
“E por que não teria? Não venho acumulando coroas e harpas desde
sempre?” Ela protegeu os olhos do sol com as mãos e contemplou o caminho de
entrada. Caspey havia passado pela porteira e agora estava à beira da estrada,
esperando aparecer alguma carroça. “Não vá dar carona para ele, está me
ouvindo?”, disse de repente... “Por que você não fica para o jantar?”
“Não posso”, respondeu a outra, “preciso voltar para casa. A tia Sally não
está bem hoje.” Absorta, ela parou um instante sob o sol, com o chapéu e o cesto
de flores no braço. Então, em um impulso repentino, tirou um papel dobrado do
decote do vestido.
“Recebeu mais uma, é isso?”, perguntou a senhorita Jenny, enquanto a fitava.
“Deixe-me ver.” Ela tomou o papel, desdobrou-o e deu um passo para sair do
sol. Seus óculos de leitura estavam presos a um fino cordão de seda que se
enrolava na mola de um pequeno estojo dourado preso com alfinete ao seu colo.
Com um estalo, ela liberou o fio de seda e ajeitou os óculos no nariz adunco. Por
trás deles os olhos eram frios e penetrantes como os de um cirurgião.
Era uma folha única de papel almaço; trazia um texto em uma letra franca e
nítida que, à primeira vista, não revelava nenhuma individualidade; uma mão
jovial mas, ao mesmo tempo, tão explicitamente neutra que logo despertava uma
desconfiança:
Você não respondeu à minha carta do dia 25. Eu não esperava
uma resposta de você. Você vai responder logo posso esperar. Não vou
machucar você sou direito e honesto e você vai persseber isso quando
nossos caminhos se cruzar. Não espero uma resposta de você mas você
sabe é só fazer um sinal.
A senhorita Jenny dobrou de novo o papel com um gesto de requintada e
sutil repugnância. “Na minha opinião, era melhor queimar isso, se não fosse a
única coisa que temos para pegá-lo. Vou mostrá-la ao Bayard à noite.”
“Não, não”, protestou a outra, estendendo a mão, “por favor, não faça isso.
Deixe que vou levá-la e rasgá-la.”
“Este é o único indício, minha querida… esta e a outra. Vamos arrumar
alguém para investigar.”
“Não, não, por favor! Não quero que ninguém mais saiba disso. Por favor,
senhorita Jenny.” E estendeu de novo a mão.
“Você quer guardar isso”, a senhorita Jenny acusou-a implacável. “Tal e qual
uma jovem tola, achando que isso é algo lisonjeiro.”
“Não, eu vou rasgar”, repetiu a outra. “Já teria feito isso, mas queria mostrar
para alguém. Isso... isso... Achei que iria me sentir menos suja, se mostrasse para
mais alguém. Por favor, deixe-me ficar com isso.”
“Que bobagem. Por que você deveria se sentir suja? Você não encorajou isto,
não é?”
“Por favor, senhorita Jenny.”
Mas a senhorita Jenny não largava o papel. “Não seja boba”, desfechou ela.
“Como algo assim pode fazer você se sentir suja? Qualquer jovem está sujeita a
receber uma carta anônima. E muitas até gostam disso. No fundo, todas nós
estamos convencidas de que os homens têm exatamente esse sentimento a nosso
respeito, e não há como não admirar quem tem a coragem de nos dizer isso na
cara, seja ele quem for.”
“Se pelo menos tivesse assinado. Pouco me importaria quem ele fosse. Mas
desse jeito... Por favor, senhorita Jenny.”
“Não seja boba”, repetiu a senhorita Jenny. “Como a gente vai saber quem é
se você destruir os indícios?”
“Não quero saber.” A senhorita Jenny largou o papel e Narcissa o picou em
pedacinhos e os atirou por sobre o parapeito e esfregou as mãos no vestido. “Não
quero saber. Quero esquecer tudo isso.”
“Bobagem. Você está morrendo de vontade de saber, mesmo agora. Aposto
que olha para cada homem que cruza seu caminho e fica se perguntando se não é
ele. E enquanto não fizer algo a respeito, essa história vai continuar. Até piorar,
provavelmente. Seria melhor se me permitisse contar tudo para o Bayard.”
“Não, não. Eu odiaria que ele soubesse, que ele achasse que eu… poderia
ter... Não tem problema, se receber outras depois desta, vou simplesmente
queimá-las, sem mesmo abri-las... Agora preciso ir.”
“Claro, claro, vai jogá-las direto no fogão”, concordou a senhorita Jenny com
fria ironia. Narcissa desceu os degraus e a senhorita Jenny avançou de novo para
o sol, deixando que os óculos retornassem ao estojo.
“Você sabe o que lhe convém, evidentemente. Mas, se fosse comigo, não iria
tolerar isso. Por outro lado, também já não tenho mais vinte e seis anos... Bem,
volte aqui quando receber outra, ou quando quiser mais flores.”
“Claro que sim. Obrigada por estas.”
“E avise-me quando souber algo de Horace. Graças a Deus, é apenas um
aparato de soprar vidro, e não uma viúva de guerra.”
“Aviso, sim. Até mais.” Desceu então pela sombra intermitente com seu
vestido branco reto e o contrastante cesto de flores e entrou no carro. A capota
estava abaixada e ela colocou o chapéu e deu a partida no motor. Virou-se para
trás de novo e acenou com a mão. “Até mais.”
O negro caminhava lentamente pela estrada, mas parou e ficou a observá-la
disfarçadamente quando ela se aproximou. Quando chegou perto, ele olhou
diretamente para ela, e era evidente que ele ia lhe fazer um sinal. Então ela
apertou o acelerador, passou por ele acelerando e seguiu velozmente para a
cidade, onde vivia numa casa de tijolos entre cedros, sobre uma colina.
Ela estava arrumando os delfínios em um fosco vaso cor de limão sobre o
piano. A tia Sally Wyatt balançava-se metodicamente em sua cadeira junto à
janela, batendo com a planta dos pés no chão a cada movimento completo. Seu
cesto de costura repousava no peitoril da janela, entre a ondulação suave da
cortina e a sua bengala de ébano ali encostada.
“E você ficou por lá durante duas horas”, disse ela, “e não conseguiu vê-lo?”
“Ele não estava”, respondeu Narcissa. “Tinha ido a Memphis.”
A tia Sally continuou a se balançar no mesmo ritmo. “Se eu fosse eles, daria
um jeito para que ficasse por lá. Não gostaria de ter aquele rapaz ao meu lado,
mesmo sendo do mesmo sangue... E o que ele foi fazer em Memphis? Achava
que aquele aeroplano — como se chama mesmo? — estivesse quebrado.”
“Imagino que tenha ido tratar de negócios.”
“E que negócio ele tem em Memphis? Bayard Sartoris tem bom senso
suficiente para não deixar nada nas mãos daquele cabeça de vento.”
“Quanto a isso não sei”, respondeu Narcissa, ainda arrumando os delfínios.
“Acho que logo está de volta. Aí a senhora pode perguntar a ele.”
“Eu, perguntar a ele? Jamais lhe dirigi uma palavra em toda a vida. E não
tenho a menor intenção de começar a fazer isso agora. Sempre me relacionei
apenas com gente de bem.”
Narcissa quebrou alguns caules, formando uma figura com as flores.
“O que ele fez que um cavalheiro não faz, tia Sally?”
“Ora, para começar um cavalheiro não fica pulando da caixa d’água nem
voando em balões, e tudo isso só para assustar as pessoas. Você acha que eu
gostaria de conviver com esse rapaz? Eu o mandaria para um asilo de loucos, se
estivesse no lugar do Bayard e da Jenny.”
“Ele não pulou da caixa d’água. Ele só se pendurou em uma corda para
mergulhar na piscina. E foi John que voou no balão.”
“Não foi o que ouvi. O que me disseram é que ele pulou daquela caixa
d’água, por cima de toda uma fileira de vagões de carga e pilhas de madeira e só
evitou a borda da piscina por uma polegada.”
“Não, não foi nada disso. Ele se agarrou à ponta de uma corda e se jogou do
telhado de uma casa para cair na piscina. A outra ponta da corda é que estava
amarrada na caixa d’água.”
“Bem, e ele não teve de pular sobre um monte de vagões de carga e de
madeira? E não poderia ter quebrado o pescoço desse jeito com tanta facilidade
como se tivesse saltado do tanque?”
“Poderia, sim”, respondeu Narcissa.
“Pois então! O que foi que eu disse? E tudo isso para quê?”
“Não sei.”
“Claro que não sabe. Foi exatamente isso que o levou a fazer essas coisas.”
Triunfante, a tia Sally voltou a balançar a cadeira por um instante. Narcissa deu
os últimos retoques no arranjo azul dos delfínios.
Um gato de pelo malhado pulou no peitoril da janela bem ao lado do cesto de
costura, em um salto tão repentino e silencioso que mais parecia um efeito de
prestidigitação. Ainda agachado, piscou para o aposento um instante, em seguida
acomodou-se sobre a barriga e, com o pescoço arqueado, passou a lamber o
ombro com a língua estreita e rosada. Narcissa aproximou-se da janela e passou
a mão pelo dorso reluzente do animal.
“E depois, subindo naquele balão, quando...”
“Aí não foi o Bayard”, repetiu Narcissa. “Foi o John.”
“Não foi bem isso o que fiquei sabendo. Ouvi que era o outro e que Bayard e
Jenny ficaram ambos implorando a ele, com lágrimas nos olhos, que não fizesse
aquilo. Ouvi dizer...”
“Nenhum dos dois estava lá. Bayard nem mesmo estava por ali. Foi o John
que fez isso. E só porque o homem que cuidava do balão caiu doente. E John
subiu com o balão para que o povo daqui não ficasse decepcionado. Vi isso com
meus próprios olhos.”
“Você estava lá e o deixou fazer isso, não é?, quando poderia muito bem ter
ligado para a Jenny ou atravessado a praça e avisado o Bayard... Você ficou por
lá e nem abriu a boca, não é?”
“É isso mesmo”, respondeu Narcissa. Ela permaneceu ali, ao lado de Horace,
em meio ao lerdo e atento círculo de gente da roça a observar o globo ir se
enchendo e esticando as cordas, e John Sartoris, com uma camisa de flanela
desbotada e calças de veludo, enquanto o homem do parque de diversões
mostrava-lhe o cabo da válvula de escape e o paraquedas; ficou ali sentindo-se
cada vez mais sem fôlego e incapaz de recuperá-lo, e vendo a coisa arrastar-se
pelo ar com John sentado em uma frágil e oscilante barra de trapézio, com olhos
que não mais conseguia fechar; viu o balão e as pessoas e tudo o mais girar
lentamente para o alto, e depois viu-se agarrada a Horace atrás da proteção de
um vagão, tentando recobrar o alento.
John acabou pousando a cinco quilômetros dali sobre uma moita de urzes e
se soltou do paraquedas e ganhou a estrada, onde subiu em uma carroça
conduzida por um negro. A dois quilômetros do vilarejo toparam com o Bayard
Velho dirigindo furiosamente sua charrete, e os dois veículos ficaram parados
um ao lado do outro na estrada enquanto, num deles, o Bayard Velho despejava
sua raiva acumulada e, no outro, seu neto permanecia sentado com as roupas
esfrangalhadas, e no seu rosto arranhado resplendia o olhar de alguém que por
um átimo saciara um desejo tão magnífico que sua realização era uma
purificação, e não uma perda.
No dia seguinte, quando ela passava diante de uma loja, ele irrompeu de lá
com a violência abrupta que tinha em comum com o irmão, contendo-se no
derradeiro instante antes de chocar-se com ela.
“Ó, descul... Ah, olá, como vai?”, exclamou ele. Por baixo das ataduras
cruzadas, o semblante era jovial e ousado e desenfreado; e estava de cabeça
descoberta. Por um instante ela o fixou com olhos arregalados e desesperados,
em seguida levou a mão à boca e seguiu em frente apressada, quase correndo.
Logo depois ele partira, juntamente com o irmão, levados ambos pela guerra
como dois cães ruidosos confinados em um remoto canil. A senhorita Jenny
dava-lhe notícias de ambos, das cartas aborrecidas e conscienciosas que
enviavam para casa após longos intervalos; e então ele estava morto… mas
longe, além-mar, e não havia nenhum corpo a ser desajeitadamente devolvido à
terra, e assim ele ainda lhe parecia estar rindo dessa palavra como havia rido de
todas as outras pronunciadas e que designavam o repouso, ele que não havia
esperado que o Tempo e tudo o que nele está contido lhe ensinassem que a
finalidade da sabedoria é sonhar alto o bastante para não perder o sonho na
própria busca.
A tia Sally balançava-se metodicamente na cadeira.
“Seja como for, não faz diferença qual deles era. Um é tão ruim quanto o
outro. Mas creio que não é culpa deles, criados como foram.
Ambos completamente estragados de tão mimados. Enquanto viveu, Lucy
Sartoris jamais admitiu que alguém lhes impusesse limites. Mas se tivessem sido
meus filhos...”, continuou a se balançar. “Teria dado um jeito neles, você ia ver.
Criar dois selvagens como esses. Mas essa gente acha que ninguém chega aos
pés dos Sartoris. Até mesmo Lucy Cranston, nascida em uma das melhores
famílias do estado, passou a agir como se a Divina Providência tivesse feito ela
se casar com um Sartoris e dar à luz mais dois. Orgulho, orgulho sem
cabimento.”
Continuou a se balançar regularmente. Sob a mão de Narcissa, o gato
ronronava com ociosa arrogância.
“Foi um castigo para eles, o John ter sido levado em vez do outro.
John pelo menos erguia o chapéu para as damas na rua, mas o outro...”
Ela continuava a se balançar monotonamente, batendo a planta dos pés
contra o piso. “O melhor é você ficar longe desse rapaz. Ele vai acabar te
matando, tal como fez com aquela pobre mulher dele.”
“Pelo menos, tia Sally, conceda-me antes o benefício de ser ré primária”,
comentou Narcissa. Debaixo de sua mão, sob o pelame reluzente do gato, os
músculos se contraíram de repente em nós apertados como fios, e o corpo dele
pareceu se alongar como se fosse de borracha enquanto escapulia da mão dela
para depois desaparecer no outro lado da varanda.
“Ó”, exclamou Narcissa. Depois ela se virou, agarrou a bengala da tia Sally e
saiu correndo da sala.
“O que...”, disse a tia Sally. “Traga já de volta a minha bengala.”
Permaneceu sentada com os olhos fixos na porta, ouvindo o rápido
matraquear dos saltos da sobrinha no vestíbulo e depois na varanda.
Então ela se levantou e foi até a janela. “Traga já a minha bengala”, gritou.
Narcissa passou correndo pela varanda e entrou no jardim. Na touceira de
bananeirinha ao lado da varanda, o gato, armando o bote, girou a cabeça de um
lado para o outro, com os olhos amarelados sem piscar. Narcissa avançou para
ele, brandindo a bengala.
“Larga isso já!”, gritou. “Larga!” Por um segundo os olhos amarelados
faiscaram para ela, em seguida o animal baixou a cabeça e saltou para longe em
um longo e fluido movimento, com o pássaro entre os dentes.
“Ó, seu desgraçado!”, gritou ela. “Seu desgraçado! Seu... seu Sartoris!” E
atirou a bengala na direção do derradeiro lampejo de pelo malhado enquanto o
gato sumia no canto da casa.
“Vá buscar a minha bengala e traga-a imediatamente para cá!”, gritou a tia
Sally da janela.
Ela e a senhorita Jenny estavam sentadas na sala de estar ensombrecida.
Como sempre, as portas estavam abertas e de repente o jovem Bayard surgiu
diante das duas e ali ficou a fitá-la.
“É o Bayard”, comentou a senhorita Jenny. “Venha aqui e fale com a
Narcissa, filho.”
Ele pronunciou um vago “olá” e ela se virou na banqueta do piano e fez um
ligeiro movimento de recuo.
“Quem é?”, perguntou ele, entrando e trazendo consigo aquela gélida
violência contida da qual ela se lembrava bem.
“É a Narcissa”, respondeu irritada a senhorita Jenny. “Venha cá e fale com
ela e deixe de agir como se não soubesse quem é.”
Narcissa deu-lhe a mão e ele a ficou segurando frouxamente, e sem encará-
la. Ela retirou a mão. Ele voltou a dirigir-lhe o olhar, mas logo o afastou, e ficou
pairando acima das duas, ali parado, alisando os cabelos com a mão.
“Queria beber algo”, disse afinal. “Não consigo achar a chave da mesa.”
“Fique aqui e converse um pouco conosco e depois você vai pegar a sua
bebida.”
Ele permaneceu parado por um instante e então moveu-se de modo abrupto
e, antes que a senhorita Jenny pudesse dizer algo, havia arrancado a capa de
outra poltrona.
“Largue já isso, seu bruto!”, exclamou a senhorita Jenny. Ela se levantou.
“Venha, sente-se aqui, se você mal consegue se aguentar em pé. Volto num
instante”, acrescentou ela para Narcissa, “vou buscar minhas chaves.”
Ele sentou-se displicentemente na poltrona, esfregando a mão na cabeça, o
olhar pairando vago na direção de seus pés com botas.
Narcissa ficou calada, de novo encolhida junto ao piano. Por fim ela falou.
“Lamento muito por sua esposa... e por John. Pedi à senhorita Jenny que lhe
transmitisse meus...”
Ele continuou a esfregar vagarosamente a cabeça, na contida violência de seu
repouso temporário.
“Você ainda não se casou, não é?”, perguntou. Ela continuou perfeitamente
imóvel. “Deveria tentar”, acrescentou. “Todo mundo deveria casar pelo menos
uma vez, assim como todo mundo deveria ir à guerra pelo menos uma vez.”
A senhorita Jenny voltou com as chaves, ele ergueu o corpo comprido e
abrupto e saiu da sala.
“Pode continuar agora”, disse ela. “Ele não vai nos incomodar de novo.”
“Não, eu preciso ir.” Narcissa levantou-se ligeira e pegou o chapéu de cima
do piano.
“Ora, você acabou de chegar.”
“Preciso ir”, repetiu Narcissa. A senhorita Jenny ficou em pé.
“Bem, se você precisa. Vou colher algumas flores. Não vai demorar nada.”
“Não, fica para outra vez; eu... eu tenho... volto outra hora e aí levo algumas
delas. Até mais.” À porta ela espiou rapidamente pelo vestíbulo e seguiu em
frente. A senhorita Jenny a seguiu até a varanda. A outra havia descido os
degraus e agora caminhava apressada para o carro.
“Então volte logo”, gritou a senhorita Jenny.
“Sim, logo”, respondeu Narcissa. “Adeus.”
2.
O jovem Bayard voltou de Memphis em seu carro. Memphis ficava a cento e
vinte quilômetros, e a viagem levara uma hora e quarenta, pois parte do caminho
era uma estrada local de terra. Comprido, baixo e cinzento, o carro tinha um
motor de quatro cilindros, dezesseis válvulas e oito velas, e lhe disseram que
podia fazer cento e trinta quilômetros por hora, embora houvesse um pedaço de
papel colado no vidro, ao qual ele não dera a menor atenção, recomendando em
letras vermelhas que não chegasse a essa velocidade antes de completar os
primeiros mil e trezentos quilômetros.
O jovem Bayard subiu pelo caminho de entrada e estacionou diante da casa,
onde seu avô estava sentado com os pés no parapeito da varanda, e a senhorita
Jenny, aprumada em seu vestido preto ao lado de uma das colunas.
Ela desceu os degraus e examinou o carro, em seguida abriu a porta e entrou
para experimentar o banco. Simon veio à porta e lançou um rápido e
depreciativo olhar antes de se afastar, e Isom surgiu do canto da casa e circulou o
carro em silêncio com uma expressão de absoluta admiração e enleio. Mas o
Bayard Velho apenas contemplou do alto a coisa comprida e empoeirada, com o
charuto entre os dedos, e grunhiu.
“Ora, ora, é tão confortável quanto uma cadeira de balanço”, comentou a
senhorita Jenny. “Venha aqui e experimente”, ela convidou o velho. Mas este
limitou-se a emitir outro grunhido, ainda com os pés apoiados no parapeito, e
observou o jovem Bayard esgueirar-se atrás do volante. O motor deu um ronco e
então se acalmou. Isom estava parado como um cão acorrentado ao lado do
veículo. O jovem Bayard olhou para ele.
“Você pode vir na próxima vez”, disse.
“Por que não agora?”, disse a senhorita Jenny. “Entre aqui, Isom.”
Isom saltou para o carro, e o Bayard Velho os viu movendo-se em silêncio
pela rampa de entrada e fitou o carro até que sumisse da vista lá embaixo no
vale. Então, acima das copas das árvores, elevou-se uma nuvem de pó na tarde
azulada, pairando rosada e dispersando-se ao sol, enquanto esvaía-se atrás dele
um ruído como de trovão longínquo. O Bayard Velho deu outra baforada com o
charuto. Simon surgiu de novo à porta e ali ficou imóvel.
“Onde o sinhô acha que eles vai bem agora na hora da comida?”, perguntou.
Bayard grunhiu de novo, e Simon ficou parado à porta, resmungando consigo
mesmo.
Vinte minutos depois o carro deslizou pela entrada e se imobilizou quase em
cima de suas marcas anteriores. No banco de trás, o rosto de Isom era como um
piano com as teclas expostas. A senhorita Jenny não colocara chapéu e segurava
o cabelo com ambas as mãos e, quando o carro parou, ainda permaneceu assim
por um instante. Em seguida, respirou fundo.
“Se fumasse, agora seria o momento de acender um cigarro”, disse,
acrescentando: “Isso é o mais rápido que ele vai?”
Isom saltou do carro e abriu-lhe a porta. Ela desceu um pouco rígida, mas
com os olhos brilhantes e as idosas e secas bochechas coradas.
“Até onde vocês foi?”, perguntou Simon da porta.
“Até a cidade”, retrucou ela com orgulho, e sua voz era límpida como a de
uma menina. A cidade ficava a seis quilômetros.
Uma semana depois, o velho Falls foi um dia à cidade e encontrou o Bayard
Velho em seu escritório, que também servia de sala dos diretores. No aposento
espaçoso havia uma mesa comprida rodeada de cadeiras, uma estante alta onde
ficavam guardados formulários bancários em branco, a escrivaninha de tampa
corrediça e a cadeira giratória do Bayard Velho, e um sofá no qual este
dormitava por uma hora após o almoço.
A mesa, como aquela em sua casa, estava atulhada de objetos disparatados
que nada tinham a ver com os negócios do banco, e no consolo da lareira
acumulavam-se ainda outros objetos de natureza agrícola, assim como um
empoeirado sortimento de cachimbos e três ou quatro jarros com fumo, que
proporcionavam alívio a toda a tropa do banco, desde o presidente ao porteiro,
assim como a uma respeitável porção da clientela do estabelecimento. Quando o
clima era propício, o Bayard Velho passava grande parte do dia em uma cadeira
inclinada junto à porta da rua, e quando o viam ali, os clientes seguiam até o
escritório nos fundos e reabasteciam seus cachimbos com o fumo dos jarros. Por
uma espécie de convenção tácita, ninguém servia-se de mais do que uma
cachimbada por vez. Ali o velho Falls e o Bayard Velho se enfurnavam durante a
visita mensal do primeiro e conversavam aos gritos (ambos eram surdos) por
cerca de meia hora. Dava para ouvi-los claramente da rua e nas lojas vizinhas ao
banco.
Os olhos do velho Falls eram azuis e inocentes como os de um menino, e a
primeira coisa que fazia era abrir o pacote que o Bayard Velho lhe trazia e tirar
dali um naco comprimido de fumo para mascar, cortar uma lasca e colocá-la na
boca, depois guardava de volta o fumo no pacote e o fechava meticulosamente.
Duas vezes por ano, o pacote continha uma muda completa de roupa; nas outras
ocasiões, fumo e um saquinho com balas de hortelã. Ele jamais cortava o
barbante, mas sempre o desatava com os dedos retorcidos e rígidos, e depois o
amarrava de novo. E nunca aceitava dinheiro.
Agora estava sentado com seu macacão limpo e desbotado, o pacote nos
joelhos, contando a Bayard a respeito do automóvel que passara por ele na
estrada naquela manhã. O Bayard Velho permaneceu imóvel, fitando-o com seus
ferozes olhos envelhecidos até que o outro terminou.
“Tem certeza de quem era?”, perguntou.
“Passou por mim tão rápido que nem sei dizer se tinha ou não alguém lá
dentro. Assim que cheguei à cidade perguntei quem era. Parece que todo mundo
sabe, a não ser você, que ele anda por aí como um louco.”
O Bayard Velho ficou sentado um tempo. Então elevou a voz.
“Byron.”
A porta se abriu e entrou o guarda-livros.
“Pois não, coronel”, disse sem alterar a voz.
“Ligue para a minha casa e diga ao meu neto para não tocar naquele carro até
eu voltar.”
“Sim, senhor, coronel.” E partiu tão silenciosamente quanto chegara.
Bayard girou estrepitosamente na cadeira e o velho Falls inclinou-se para a
frente, perscrutando-lhe o rosto.
“Que é isso que você tem na cara, Bayard?”, perguntou.
“O quê?”, indagou Bayard, e então levou a mão até uma pequena marca que
o rubor de seu rosto havia destacado. “Aqui? Não sei.
Apareceu há mais ou menos uma semana. Por quê?”
“Tá aumentando?”, perguntou o outro. Ele se levantou e colocou o pacote no
chão e estendeu a mão. O Bayard Velho recuou a cabeça.
“Não é nada”, disse irritado. “Deixa estar.” Mas o velho Falls afastou a mão
do outro e tocou a marca com os dedos.
“Hum”, murmurou. “Duro como pedra. E vai crescer, sim sinhô. Vou ficar de
olho nisso, e quando chegar a hora, tiro fora. Ainda não tá maduro, isso aí.” De
repente e em silêncio, o guarda-livros estava junto deles.
“O cozinheiro do senhor disse que o seu neto e a senhorita Jenny saíram para
passear de carro. Deixei o recado do senhor.”
“Jenny está com ele, é isso?”, perguntou o Bayard Velho.
“Foi o que disse o cozinheiro do senhor”, repetiu o guarda-livros com voz
monótona.
“Está certo. Tudo bem.”
O guarda-livros retirou-se e o velho Falls apanhou o pacote. “Também vou
indo”, disse. “Volto semana que vem e dou uma olhada nisso. Até lá é melhor
não mexer aí.” Saiu da sala atrás do guarda-livros e então o velho Bayard se
levantou e atravessou o saguão e sentou-se na cadeira inclinada junto à porta.
Naquela tarde, ao chegar em casa, não se via o carro nem a tia respondeu ao
seu chamado. Subiu então para o quarto, vestiu as botas de montaria e acendeu
um charuto, mas quando olhou o pátio dos fundos pela janela, não viu Isom nem
a égua selada. O único que lá estava era o velho perdigueiro, com os olhos
erguidos para a janela.
Quando nela apareceu a cabeça do Bayard Velho, o cão se levantou, foi até a
porta da cozinha e ali ficou; em seguida, voltou a olhar para a janela. O Bayard
Velho desceu pesadamente pela escada, atravessou-a casa e entrou na cozinha,
onde Caspey estava à mesa, comendo e conversando com Isom e Elnora.
“E aí outra vez eu e outro cara...”, contava Caspey. Então Isom viu Bayard e
levantou-se de onde estava, no canto do caixote de lenha, e seus olhos reviraram
esbranquiçados na cabeça pontuda. Elnora também ficou parada com a vassoura
na mão, mas Caspey virou a cabeça sem erguê-la e, sem parar de mastigar
firmemente, piscou os olhos ao ver o Bayard Velho à porta.
“Uma semana atrás eu mandei um recado para você, para vir para cá naquela
hora, ou então não vir mais”, disse Bayard. “Você não recebeu?” Caspey
resmungou algo, ainda mastigando, e o Bayard Velho entrou no aposento.
“Levante daí e sele o meu cavalo.”
Caspey voltou-lhe as costas de propósito e ergueu o copo de leite desnatado.
“Mexa-se, Caspey!”, Elnora sibilou em sua direção.
“Não tô trabalhando aqui”, respondeu ele, num tom pouco abaixo do limiar
da surdez de Bayard. E, virando-se para Isom: “Por que você num vai buscar o
cavalo pra ele? Você num trabalha aqui?”
“Caspey, pelamor de Deus!”, implorou Elnora. “Já vai, coroné. Ele tá indo”,
disse ela mais alto.
“Quem, eu?”, replicou Caspey. “Tenho cara de que tou indo?” Levou
decididamente o copo até a boca; então Bayard aproximou-se de novo e aí
Caspey perdeu a coragem e levantou-se rápido antes que o outro o alcançasse,
atravessando a cozinha em direção à porta, mas com uma insolência taciturna
estampada no próprio formato de suas costas.
Quando tentava abrir a porta, Bayard o alcançou.
“Você vai selar a égua?”, exigiu.
“Pode contar com isso, chefe”, respondeu Caspey, num tom inaudível por
Bayard.
“O quê?”
“Pelamor de Deus, Caspey!”, gemeu Elnora. Isom se encolheu no canto.
Caspey relanceou os olhos até o rosto de Bayard e abriu a porta de tela.
“Eu disse pode contar com isso”, repetiu, alçando a voz
Simon estava parado ao pé dos degraus, junto com o perdigueiro, a boca
desdentada aberta para eles, enquanto o Bayard Velho agarrou um toco de lenha
do fogão e golpeou Caspey, derrubando-o pela porta aberta e degraus abaixo até
os pés do pai.
“Agora vá e sele a égua”, disse.
Simon ajudou o filho a se levantar e o levou na direção do estábulo, sob o
olhar sério e atento do perdigueiro. “Num te falei que essas ideia novidadeira
que você trouxe da guerra num vão dá certo por aqui”, disse nervoso. “Você tem
mais é que dar graça ao bom Deus por ter feito você durão assim. Agora vai lá
buscar a égua e guarda essa conversa de liberdade dos negro pro pessoal da
cidade, que tem estômago pra isso. Praque diabo nós preto quer ser livre? A
gente já não tem branco demais pra aguentar?”
De noite, no jantar, o Bayard Velho fitou o neto por sobre o assado de
carneiro. “Will Falls me contou que hoje você passou por ele no morro do asilo a
uns setenta quilômetros por hora.”
“Setenta nada”, respondeu de pronto a senhorita Jenny. “Oitenta e cinco. Eu
fiquei de olho no... como se chama aquilo, Bayard?... no velocímetro.”
O Bayard Velho estava sentado com a cabeça um pouco inclinada, fitando
suas mãos trêmulas que seguravam o garfo e a faca de trinchar; ouvindo, sob o
guardanapo preso ao colete, seu coração um tanto ligeiro e acelerado demais;
sentindo os olhos da senhorita Jenny cravados em seu rosto.
“Bayard”, perguntou ela de modo incisivo, “o que é isso em sua cara?”
Ele se ergueu tão de repente que a cadeira tombou para trás com um
estrondo, e saiu da sala pisando forte, as mãos trêmulas e o coração batendo cada
vez mais rápido.
3.
“Sei bem o que você quer que eu faça”, disse ao Bayard Velho a senhorita
Jenny, detrás de seu jornal. “Você quer que eu ponha de lado minhas tarefas
domésticas e passe o tempo todo naquele carro, é isto o que você quer. Bem, não
tenho a menor intenção de fazer isto. Não me importo de passear com ele vez
por outra, mas tenho muitas coisas com que me ocupar e não posso cuidar para
que ele não corra demais naquele carro. E também tenho um pescoço a
proteger”, acrescentou. Então alisou o jornal ruidosamente.
Disse ainda: “Além disso, você não é idiota o suficiente para acreditar que
ele vai andar mais devagar só porque está acompanhado, ou é? Se é isso o que
acha, então é melhor mandar o Simon ficar junto dele. Deus sabe que Simon tem
tempo de sobra. Desde que você deixou de usar a charrete, não tenho a menor
ideia do que ele faz, se é que faz alguma coisa.” E voltou a ler o jornal.
O charuto do Bayard Velho queimava em sua mão imóvel.
“Talvez mande o Isom”, disse.
O jornal da senhorita Jenny foi estrepitosamente sacudido, e o olhar dela
fixou-se no sobrinho por uns bons momentos. “Deus do céu, homem, por que
você não o prende com corrente a uma bola de ferro e acaba com essa história?”
“Mas não foi você mesma que disse para mandar o Simon acompanhá-lo? O
Simon tem seus afazeres, mas tudo o que o Isom faz é selar o cavalo uma vez
por dia, e eu mesmo posso fazer isso.”
“Estava tentando ser irônica”, disse a senhorita Jenny. “Deus sabe que nesta
altura eu já devia ter aprendido a lição. Mas se você tem de inventar algo novo
para os negros fazerem, que seja o Simon. Eu preciso do Isom para cuidar desta
sua casa e pôr comida à mesa.” Ela chacoalhou o jornal. “Por que você
simplesmente não diz o que pensa e pede a ele que não corra tanto? Um homem
que tem de passar oito horas diárias sentado em uma cadeira diante daquela
porta de banco não deveria ser obrigado a passar o resto da tarde farreando por aí
em um automóvel se não quiser.”
“Você acha que adiantaria eu pedir a ele? Nunca que nenhum desses malditos
jamais deu a menor importância aos meus desejos.”
“Pedir não”, retrucou a senhorita Jenny. “Quem falou em pedir? Diga a ele
para não fazer isso. Diga a ele que, se souber de novo que ele anda correndo,
você vai arrancar a pele dele. Seja como for, acho que você gosta de passear
naquele carro, só que não admite isso, e não quer que ele ande de carro quando
você não pode ir junto.” Mas o Bayard Velho havia socado os pés no chão e se
levantado, deixando ruidosamente a sala.
Em vez de subir a escada, porém, a senhorita Jenny ouviu os passos dele
extinguindo-se no vestíbulo, e logo ela se levantou e o seguiu até a varanda dos
fundos, onde o encontrou na escuridão. A noite estava escura, tomada por uma
miríade de aromas flutuantes da primavera e por insetos. Um escuro sobreposto
a um escuro menos intenso, o estábulo delineava-se contra o céu.
“Ele ainda não voltou”, disse ela com impaciência, tocando-lhe no braço.
“Eu poderia ter lhe dito. Agora suba e vá dormir; você não sabe que ele lhe dará
um sinal quando chegar? Você vai acabar imaginando-o em uma vala por aí, com
essas suas ideias.” Em seguida, mais terna: “Você é infantil demais em relação a
esse carro. Ele não é mais perigoso à noite do que durante o dia. Vem, vamos
subir.”
Ele afastou a mão dela, mas voltou-se obedientemente e entrou na casa.
Desta vez subiu os degraus, e ela podia ouvi-lo, pisando duro de um lado para o
outro. Logo ele deixou de bater portas e gavetas e acomodou-se sob a lâmpada
de leitura com o seu Dumas. Pouco depois, a porta se abriu, o jovem Bayard
entrou e aproximou-se do círculo luminoso com seus olhos desolados.
O avô não notou a sua presença e ele tocou seu braço. O Bayard Velho
levantou os olhos e, ao fazer isso, o jovem Bayard deu-lhe as costas e saiu do
quarto.
Depois que as persianas nas janelas do banco foram baixadas às três da tarde,
o velho Bayard retirou-se para o escritório. Do lado de lá da grade, o caixa e o
guarda-livros podiam ouvi-lo movendo-se e tropeçando estrepitosamente atrás
da porta. O caixa fez uma pausa, com uma pilha de moedas de prata presa com
firmeza entre os dedos.
“Tá ouvindo?”, comentou. “Alguma coisa tá perturbando ele aqui
ultimamente. Antes ficava quieto como um rato lá no fundo até que viessem
buscá-lo, mas nos últimos dias fica fazendo essa barulheira como se estivesse
lutando contra marimbondos.”
O guarda-livros continuou calado. O caixa colocou a pilha de moedas de
lado e juntou outra.
“Alguma coisa tá preocupando ele ultimamente. Aquele inspetor deve ter
posto uma pulga atrás de sua orelha, acho eu.”
O guarda-livros continuou calado. Levou a máquina de somar para a mesa e
puxou a alavanca com um estalo. Na sala dos fundos, o Bayard Velho movia-se
ruidosamente de um lado para o outro. O caixa empilhou perfeitamente o
restante das moedas de prata e enrolou um cigarro. O guarda-livros inclinou-se
sobre os estalidos regulares da máquina, e o caixa selou com saliva o cigarro e o
acendeu, depois foi gingando até a janela e subiu a cortina.
“Hoje Simon veio de charrete”, disse. “O garoto afinal arrebentou com o
carro, imagino. Melhor avisar o coronel.”
O guarda-livros escorregou da banqueta, caminhou até a porta dos fundos e a
abriu. De sua mesa e já de chapéu, o velho Bayard ergueu a cabeça.
“Está bem, Byron”, disse
O guarda-livros voltou para a sua mesa.
O Bayard Velho cruzou em silêncio o banco, abriu a porta da frente e ficou
parado, a mão na maçaneta.
“Onde está o Bayard?”, disse.
“Ele num vem”, respondeu Simon. O Bayard Velho aproximou-se da
charrete.
“O quê? Cadê ele?”
“Ele e o Isom tão por aí naquele carro”, disse Simon. “Sabe Deus onde tão
agora. Tirando o menino do trabalho no meio do dia pra passear de carro.” O
Bayard Velho colocou a mão no poste de amarração, a marca no rosto
sobressaindo-se de novo esbranquiçada.
“Depois de tudo o que fiz pra enfiar um pouco de juízo na cabeça do Isom”,
continuou Simon. Ele mantinha erguidas as cabeças dos cavalos, esperando que
o patrão entrasse. “Passeando de carro”, disse.
“Passeando de carro.”
Bayard Velho entrou e desabou pesadamente no assento.
“Que desgraça”, exclamou, “agora tenho de sustentar a maior corja de vadios
já criada por Deus. Mas uma coisa é certa: quando afinal eu acabar no asilo,
todos vocês desgraçados vão estar lá me esperando.”
“Agora é o sinhô que vem brigar comigo”, disse Simon. “A sinhá Jenny
ficou berrando comigo até depois de eu passar a porteira, e agora o sinhô já vem
falando assim. Mas se o nhô Bayard não deixar o moleque em paz, ele num vai
ser melhor que esses negro metido, mesmo com tudo o que eu fizer.”
“A Jenny já estragou ele”, disse o velho Bayard. “Nem mesmo o Bayard
pode piorá-lo mais.”
“O sinhô tá muito certo”, concordou Simon. Ele sacudiu as rédeas.
“Vambora, vamos.”
“Espere, Simon”, pediu o Bayard Velho, “espere um pouco.”
Simon imobilizou os cavalos. “O que o sinhô quer agora?”
A marca no rosto do Bayard Velho retomara sua aparência normal.
“Vai lá no escritório e apanha um charuto naquele jarro que está no parapeito
da lareira”, disse ele.
Dois dias depois, quando ele e Simon seguiam sossegadamente para casa à
tarde, quase ao mesmo tempo com o trovão que o anunciava, o carro irrompeu
sobre eles em uma curva, desviou pela valeta e retomou a estrada adiante, sem
parar, e, em um instante fugaz, ele e Simon vislumbraram o branco dos olhos de
Isom e o marfim de seus dentes arreganhados atrás do volante. Quando o carro
retornou para casa naquela tarde, Simon levou Isom para o estábulo e deu-lhe
uma surra com uma correia dos arreios.
Naquela noite eles se sentaram no escritório após o jantar. O Bayard Velho
mantinha o charuto apagado entre os dedos. A senhorita Jenny lia o jornal. Uma
brisa leve soprava, impregnada da primavera.
De repente, o Bayard Velho disse: “De repente ele acaba se cansando disso”.
A senhorita Jenny ergueu a cabeça. “E aí, você não sabe o que ele vai
querer?… quando achar que o carro não é veloz o suficiente?”, indagou ela,
olhando-o por cima do jornal. Ele permaneceu sentado, com o charuto frio, a
cabeça um pouco inclinada, sem devolver-lhe o olhar. “Vai comprar um
aeroplano.” Ela sacudiu o jornal e virou a página. “Ele devia é arrumar uma
mulher”, acrescentou, voltando a ler. “Deixe ele arranjar um filho, aí pode
quebrar o pescoço quando quiser. Essa Providência não parece ter absolutamente
nenhum juízo”, disse ela, pensando em ambos os irmãos, naquele que morrera.
E acrescentou: “Mas Deus sabe muito bem que eu odiaria ver qualquer moça
de que gostasse casar com ele”. Voltou a sacudir ruidosamente o jornal e virou
outra página. “Não sei mais o que esperar dele. Ou de qualquer um dos Sartoris.
Você mesmo não desperdiça suas tardes passeando com ele só porque acha que
isso vai impedi-lo de capotar o carro. Você faz isso porque, se isso acontecer,
também quer estar lá. Por isso você acha que tem mais consideração pelos outros
do que ele?”
Ele segurava o charuto, o rosto ainda virado. A senhorita Jenny o observava
por sobre o jornal.
“Vou à cidade pela manhã e vamos ao doutor para que ele dê uma olhada
nessa coisa em seu rosto, está me ouvindo?”
Em seu quarto, enquanto despregava o colarinho e a gravata diante da
cômoda, o olhar dele recaiu sobre o cachimbo que ali colocara quatro semanas
antes, e ele pôs de lado o colarinho e a gravata, e pegou o cachimbo e ficou
segurando-o, esfregando lentamente o fornilho chamuscado com o polegar.
Então, após súbita decisão, deixou o quarto e desceu pesadamente para o
salão, em cuja extremidade uma escada subia para a escuridão. Tateou até achar
o interruptor de luz ao lado dela e subiu, seguindo as voltas apertadas,
cautelosamente no escuro, até uma porta colocada em um ângulo difícil, e a
abriu, entrando em aposento amplo e baixo com teto inclinado, recendendo a pó
e silêncio e velhas coisas abandonadas.
O aposento estava atulhado de móveis indistintos — cadeiras e sofás como
espectros pacientes prendendo ligeiramente em um abraço seco e rígido ainda
outros espectros –, um lugar apropriado para os falecidos Sartoris se reunirem e
conversarem entre eles sobre os glamorosos e desastrosos dias do passado. A
lâmpada nua pendia de um único fio no centro do teto. Ele a tirou de lá e a levou
até um prego na parede acima de um baú de cedro; depois de pendurá-la ali,
puxou uma cadeira para junto do baú e se sentou.
O baú não fora aberto desde 1901, quando seu filho John sucumbira à febre
amarela e a um antigo ferimento provocado por uma bala espanhola. Desde
então, houvera duas outras ocasiões, em julho e outubro do ano anterior, mas o
seu outro neto ainda estava vivo e não havia como sondar o seu destino. Por isso
havia se contido por um tempo, na expectativa de matar dois coelhos com uma
cajadada só, por assim dizer.
O cadeado estava emperrado e ele lutou pacientemente para abri-lo. A
ferrugem se soltou, grudando em suas mãos, e ele desistiu e então se levantou;
após vasculhar ao redor, voltou ao baú com um pesado castiçal de ferro fundido
e martelou o cadeado até que se quebrasse e aí abriu o tampo. Do baú ergueu-se
um leve e instigante odor de cedro, e algo mais: uma fragrância nostálgica, seca
e almiscarada, como de cinzas antigas. O primeiro objeto era um vestido, de um
brocado opulentamente opaco, e o caimento da requintada renda de Mechlin era
de um amarelo ressecado, mortiço e inconsútil como a luz em um dia de
fevereiro. Com todo o cuidado ele ergueu o vestido e o retirou do baú. A renda
cascateou suave e pálida como vinho derramado sobre as suas mãos, e ele a
colocou de lado e tirou em seguida um espadim. Era originário de Toledo, uma
lâmina delicada e fina como a nota prolongada de um arco de violino. Elegante e
flamejante, a bainha de veludo estava suja, e suas costuras haviam se rompido de
tão secas.
O Bayard Velho segurou o espadim nas mãos por um instante, avaliando o
seu equilíbrio. Era exatamente uma ferramenta assim que um Sartoris
consideraria o equipamento apropriado para cultivar fumo em uma mata virgem,
isto e os saltos de cor escarlate e os punhos rendados com os quais desbravou a
terra e combateu vizinhos dissimulados e simplórios.
Ele o pôs de lado. Então retirou um pesado sabre de cavaleiro e um estojo de
pau-rosa contendo duas pistolas de duelo com cabos de prata e a esguia e
enganosa delicadeza de cavalos de corrida, e também aquilo que o velho Falls
chamava de “pistola danada”. Esta era uma coisa rombuda e de ar malévolo,
com seus três canos, fria e perversamente utilitária, e, em meio às outras duas
armas, mais parecia um inseto frio e letal entre duas flores.
Depois retirou um quepe militar azul da década de quarenta, uma pequena
vasilha de cerâmica, um facão mexicano e uma lata de óleo de bico longo, tal
como as usadas por condutores de locomotivas. Esta era de prata e tinha gravada
a imagem de uma locomotiva dotada de enorme chaminé em forma de sino,
circundada por uma grinalda ornamentada. Sob ela, o nome “Virginia” e a data
“9 de agosto de 1873”.
Colocou tudo isso à parte e, com súbita determinação, retirou os outros
objetos — um casaco com alamares e debrum na cor cinza dos confederados e
um vestido de musselina florida recendendo ligeiramente a lavanda e evocativo
de antigos minuetos formais e de lufadas de madressilva entre as chamas eretas
de candeias –, chegou a um amontoado de papéis amarelados meticulosamente
amarrados em pacotes e, por fim, a uma enorme Bíblia com capa de latão.
Colocou-a na borda do baú e a abriu. O papel estava pardacento e amolecido
pelo tempo, com uma textura semelhante à de cinza de madeira ligeiramente
úmida, como se cada página se mantivesse intacta graças às arcaicas e
desbotadas letras impressas. Virou as páginas com cuidado até as guardas do
final. Começando na parte inferior da última página em branco, uma coluna de
nomes e datas erguia-se em despojada e descolorida simplicidade, tornando-se
cada vez mais débil ali onde se impusera o tempo. No alto os nomes ainda eram
legíveis, tal como no pé da página anterior. No entanto, no meio da página
cessavam, e a partir dali a folha estava em branco, exceto pelas débeis e suaves
manchas do tempo e uma ocasional marca furta-cor de caneta.
Bayard Velho ficou sentado ali por um longo tempo, contemplando a
despojada e evanescente apoteose de seu nome. Os Sartoris haviam zombado do
Tempo, mas o Tempo não era vingativo, perdurando bem mais do que os
Sartoris. E provavelmente nem sequer se dava conta deles. Mas, de qualquer
modo, era um belo gesto.
“No século dezenove”, dissera John Sartoris, “a genealogia é uma tolice.
Sobretudo na América, onde importa apenas o que um homem conquista e
mantém, e onde todos nós temos antepassados comuns e a única casa da qual
podemos dizer com alguma certeza que descendemos é a do Old Bailey. Porém,
o homem que afirma não dar a mínima para os seus ancestrais é só um pouco
menos presunçoso do que aquele que baseia todas as suas ações no precedente
do sangue. E imagino que um Sartoris pode se permitir um pouco de presunção e
de tolice, se quiser.”
Sim, foi um belo gesto, e o Bayard Velho, ainda sentado, considerou em
silêncio o tempo verbal que usara. Foi. Fatalidade; o augúrio do destino de um
homem espreitando-o de uma sebe à beira do caminho, se ele ao menos o
reconhecesse, e de novo corria ofegante em meio aos arbustos enquanto no
crepúsculo diminuía o estrondear do garanhão cor de fumo e a patrulha ianque
afastava-se ruidosamente, com um barulho cada vez mais débil, até ele se
agachar sem fôlego e ofegante em uma moita de roseira-brava e ouvir seus
perseguidores sumirem ao longe. Depois rastejou até uma nascente que conhecia
e manava das raízes de uma faia, e ao se abaixar para a água a derradeira luz do
dia refletiu-se em seu rosto, destacando com nitidez a testa e o nariz acima das
órbitas cavernosas dos olhos e do arquejante rosnado dos dentes, e por breve
instante uma caveira o fitou da água imóvel.
Os caminhos não trilhados do destino de um homem. Ora, o céu, esse lugar
apinhado, fica logo além de um deles, era o que se dizia; o céu repleto das
ilusões que cada qual entretinha sobre si mesmo, e das ilusões conflitantes a
respeito de si mesmo que desfilam pelos espíritos de outras ilusões... Ele se
mexeu e suspirou em silêncio, e pegou a caneta-tinteiro. Ao pé de uma coluna
anotou:
John Sartoris
5 de julho de 1918.
E, embaixo:
Caroline White Sartoris e filho
27 de outubro de 1918.
Assim que a tinta secou, fechou o livro e o guardou; em seguida, tirou do
bolso o cachimbo e o colocou no estojo de pau-rosa juntamente com as pistolas
de duelo e a pistola de bolso e recolocou todas as outras coisas no baú, baixou o
tampo e trancou o cadeado.
A senhorita Jenny encontrou o Bayard Velho em sua cadeira inclinada, à
porta do banco. Ele ergueu a cabeça e a contemplou com simulado ar de surpresa
e sua surdez parecia ainda mais acentuada do que o normal. Mas, com fria
implacabilidade, ela fez com que se levantasse e o conduziu, ainda
resmungando, pela rua na qual os lojistas e os outros a cumprimentaram como se
estivessem diante de uma rainha empertigada, o Bayard Velho caminhando ao
lado com relutância ressentida.
Logo depois viraram e subiram uma escadaria estreita entre duas lojas, sob
desbotadas placas de profissionais. No alto deram num corredor escuro com
portas, a mais próxima de pinho, com a pintura cinzenta ferida na parte inferior
como se tivesse sido chutada repetidas vezes na mesma altura e com a mesma
força. Na própria porta, dois buracos, distantes uma polegada um do outro,
davam o testemunho mudo do ferrolho ausente, e de um grampo no batente
pendia o próprio ferrolho, ali preso por um enorme e enferrujado cadeado antigo.
Bayard propôs que entrassem ali, mas a senhorita Jenny conduziu-o com firmeza
a uma porta do outro lado.
Essa porta fora recém-pintada de modo a aparentar lambri de nogueira. Na
parte superior, um vidro espesso e opaco exibia um nome em letras ressaltadas e
douradas, e dois horários de atendimento.
A senhorita Jenny abriu a porta e ela e Bayard entraram em uma saleta, um
aposento de assepsia espartana mas acolhedor. As paredes eram de um cinza
novo, imaculado, com a reprodução de um Corot e duas intricadas gravuras de
ponta-seca em molduras estreitas, e o aposento estava mobiliado com um tapete
novo de uma cálida cor de camurça, e com uma mesa vazia e quatro cadeiras de
carvalho esfumado — tudo impessoal e limpo e barato, mas proporcionando um
vislumbre da alma do proprietário; uma alma por enquanto constrangida por
questões financeiras, mas destinada, e decidida, a um dia se mover entre tapetes
persas e mogno e teca, e uma única gravura irrepreensível nas castas paredes.
Uma jovem trajando um vestido branco engomado levantou-se de uma mesa
menor sobre a qual havia um telefone e ajeitou o cabelo.
“Bom dia, Myrtle”, cumprimentou a senhorita Jenny. “Por favor, diga ao
doutor Alford que gostaríamos de vê-lo.”
“Vocês têm consulta marcada?”, perguntou a jovem, com uma voz sem
qualquer inflexão.
“Vamos marcar uma agora, então”, replicou a senhorita Jenny. “Você não
está querendo dizer que o doutor não atende antes das dez, está?”
“O doutor Alford não... não atende ninguém que não tenha marcado
consulta”, repetiu a jovem, fitando um ponto acima da cabeça da senhorita
Jenny. “Se a senhora não marcou consulta, terá de marcar agora...”
“Chega, chega”, atalhou bruscamente a senhorita Jenny. “Entre lá e diga ao
doutor Alford que o coronel Sartoris quer vê-lo, vá, vá, como uma boa menina.”
“Sim senhora, senhorita Jenny”, disse obedientemente a jovem e atravessou a
sala, mas diante da outra porta fez mais uma pausa e de novo sua voz lembrou a
de um papagaio. “Não querem se sentar? Vou ver se o doutor está ocupado.”
“Vá e diga ao doutor Alford que estamos aqui”, a senhorita Jenny repetiu
com afabilidade. “E diga também que ainda preciso fazer compras agora de
manhã e não tenho muito tempo.”
“Está bem, senhorita Jenny”, assentiu a jovem e desapareceu; depois de um
intervalo aceitável ela voltou, mais uma vez impecavelmente revestida de suas
maneiras profissionais. “O doutor vai recebê-los agora. Entrem, por favor.” Ela
manteve a porta aberta e colocou-se de lado.
“Obrigada, querida”, retrucou a senhorita Jenny. “E a sua mãe, continua
acamada?”
“Não, senhora, agora já está sentando um pouco, obrigada.”
“Isso é bom”, assentiu a senhorita Jenny. “Vamos, Bayard.”
A sala era ainda menor que a anterior, e brutalmente desinfetada.
Havia um armário branco esmaltado repleto de ferozes cintilações
niqueladas, uma mesa de operações metálica e uma bateria de fornos,
aquecedores e esterilizadores. Com sua jaqueta de linho branco, o médico estava
debruçado sobre uma mesa pequena e, por um momento, os dois contemplaram
sua esguia e absorta cabeça. Em seguida ele ergueu os olhos e se levantou.
Ainda era jovem, na casa dos trinta anos, um recém-chegado à cidade e
sobrinho de um antigo morador. Destacara-se na faculdade de medicina e tinha
uma aparência agradável, mas deixava transparecer uma espécie de dignidade
preocupada, uma espécie de desilusão erudita e gélida em relação à humanidade,
que impedia a intimidade fácil da cidade pequena e fazia com que até aqueles
que se lembravam dele quando criança o tratassem por “doutor” ou “senhor”.
Usava um bigode pequeno e seu rosto lembrava uma máscara… um rosto
reconfortante mas frio; e quando o Bayard Velho sentou-se inquieto, o médico
examinou delicadamente com seus dedos secos e desinfetados o tumor. A
senhorita Jenny perguntou-lhe algo, mas ele continuou absorto em sua
exploração, como se não tivesse ouvido, como se ela nem mesmo tivesse dito
algo; então introduziu uma pequena lâmpada elétrica, que antes esterilizou, na
boca de Bayard, fazendo piscar a sua luzinha rubra no lado interno da bochecha.
Depois ele a removeu, voltou a desinfetá-la e a devolveu ao armário.
“E então?”, perguntou com impaciência a senhorita Jenny. O médico fechou
o armário com cuidado, lavou e secou as mãos, aproximou-se ainda em pé e,
com os polegares enganchados nos bolsos da jaqueta, começou a falar de modo
técnico, solene e melífluo, rolando as duras palavras sobre a língua com uma fria
voluptuosidade.
“Quanto antes for removido, melhor”, sentenciou. “Seria melhor tirá-lo
enquanto está em sua etapa inicial; por isso, o meu conselho é uma operação
imediata.”
“Quer dizer, pode virar câncer?”, perguntou a senhorita Jenny.
“Não há dúvida quanto a isso, minha senhora. É uma questão de tempo. Se
for negligenciado, não posso prometer nada; mas se for extraído agora, nunca
mais ele vai precisar se preocupar.” Voltou a fitar o Bayard Velho,
contemplando-o com um olhar frio. “É um procedimento muito simples. Posso
extirpá-lo com tanta facilidade quanto isto.” E fez um gesto brusco com a mão.
“O que é isso?”, perguntou Bayard.
“Disse que posso extirpar esse tumor com tanta facilidade que o senhor nem
vai perceber, coronel Sartoris.”
“Diabos me levem se você fizer isso!”, Bayard ergueu-se com um de seus
característicos movimentos impulsivos.
“Sente-se aí, Bayard”, ordenou a senhorita Jenny. “Ninguém vai passá-lo na
faca sem você saber. E isso deveria ser feito de imediato?”, perguntou ela ao
médico.
“Sim, senhora. Eu não ficaria com isso em meu rosto nem de hoje para
amanhã. Caso contrário, devo alertá-la que nenhum médico vai assumir a
responsabilidade pelo que poderia ocorrer... E posso resolver isso em dois
minutos”, acrescentou, voltando a examinar o rosto de Bayard com um olhar frio
e especulativo. Em seguida volveu um pouco a cabeça, assumindo uma atitude
de escuta, e por trás das paredes finas uma voz no outro quarto ribombava em
ondas altas e impetuosas.
“Dia, irmã”, dizia a voz. “Por acaso é o primo Bayard Sartoris praguejando
ali dentro?” O médico e a senhorita Jenny mantiveram-se na mesma atitude,
imóveis; em seguida, a porta se abriu e o homem mais corpulento de todo o
condado a preencheu. Vestia um paletó de alpaca reluzente sobre o colete e as
calças pretas e largas de casimira; acima da camisa pregueada as dobras de sua
papada praticamente recobriam o colarinho baixo e a gravata escura de cordão.
Sua cabeça de senador romano era encimada por uma vigorosa e revolta
cabeleira prateada. “Que diabo você tem?”, rugiu e entrou na sala, ocupando-a
inteiramente e apequenando os seus ocupantes e a sua mobília.
Era o doutor Lucius Quintus Peabody, com seus oitenta e sete anos de idade,
pesando cento e quarenta quilos, e dotado de um trato digestivo cavalar. Havia
clinicado no condado quando o equipamento de um médico consistia em um
serrote, um galão de uísque e um saco de calomelano; servira como cirurgião no
regimento de John Sartoris; e, até a chegada dos automóveis, saía a qualquer
hora do dia, em qualquer tempo, e fosse qual fosse a distância, enfrentando
caminhos praticamente intransitáveis em uma carruagem cambada e sem molas,
a fim de socorrer qualquer um, branco ou negro, que o chamasse, em geral
aceitando como remuneração uma refeição de pão de milho e café, ou talvez
uma pequena quantidade de milho ou de frutas, ou alguns bulbos e enxertos de
flores.
Quando jovem e expedito havia iniciado um diário, e o manteve
meticulosamente até que esses créditos hipotéticos chegaram a dez mil dólares.
Mas isso havia sido quarenta anos antes, e desde então não se dera o trabalho de
registrar mais nada; e agora vez por outra um roceiro entrava em seu consultório
mambembe e saldava uma dívida antiga, às vezes relativa à entrada do pagador
no mundo, incorrida por seu pai ou seu avô, algo que o próprio doutor Peabody
esquecera havia muito tempo. Todo mundo no condado o conhecia e mandava-
lhe presuntos e carne de caça no Natal, e diziam que podia passar o resto de seus
dias circulando pelo condado na antiga carruagem sem molas que ainda possuía,
sem jamais ter de se preocupar onde dormir e comer, e sem despender um níquel.
Ele preencheu o aposento com a sua franca e despretensiosa humanidade, e
quando atravessou o piso e deu uns tapas nas costas da senhorita Jenny com sua
manopla de mangual, todo o prédio tremeu com seus passos.
“Dia, Jenny”, disse. “Trouxe o Bayard para ser avaliado para o seguro?”
“Esse maldito açougueiro quer me cortar”, queixou-se o Bayard Velho.
“Venha aqui e faça com que me deixem em paz, Loosh.”
“Dez da manhã ainda é cedo demais pra começar a talhar um branco”,
vociferou. “Com um negro é outra coisa. Dá pra retalhar um negro em qualquer
momento depois da meia-noite. O que há com ele, filho?”, perguntou ao doutor
Alford.
“Acho que não passa de uma verruga”, disse a senhorita Jenny, “mas estou
farta de ver isso.”
“Não é verruga, não”, o doutor Alford a corrigiu severamente. Então
recapitulou seu diagnóstico em jargão técnico enquanto o doutor Peabody
envolvia a todos na rubicunda benevolência de sua presença.
“Parece bem ruim, não?”, assentiu e voltou a sacudir o piso e empurrou
Bayard firmemente na cadeira com uma de suas manoplas, e com a outra girou o
rosto dele para cima na direção da luz. Em seguida extraiu do bolso do paletó um
par de óculos com armação de metal e examinou o rosto de Bayard. “Acha que é
melhor cortar isso fora, não é?”
“É o que acho”, respondeu friamente o doutor Alford. “Na minha opinião, é
indispensável que isso seja removido. Não precisa ficar aí.
Câncer.”
“As pessoas conviveram com o câncer por muito tempo antes de inventarem
os bisturis”, comentou secamente o doutor Peabody. “Fique quieto agora,
Bayard.”
E um dos motivos disso são médicos como o senhor, estava na ponta da
língua do jovem. Mas se conteve e disse: “Removo esse tumor em dois minutos,
coronel Sartoris”.
“Nem morto”, replicou Bayard com veemência, tentando se levantar.
“Sai da frente, Loosh.”
“Fique quieto”, respondeu o doutor Peabody firmemente, segurando-o na
cadeira enquanto apalpava o tumor. “Sente alguma dor?”
“Não, nunca disse que doía. E maldito seja...”
“Provavelmente você será amaldiçoado de qualquer modo”, disse-lhe o
doutor Peabody. “Seja como for, você poderia muito bem já estar morto. Não
conheço ninguém que se divirta menos nesse mundo do que você.”
“Uma vez na vida você disse algo certo”, concordou a senhorita Jenny.
“Ele é a pessoa mais velha que conheci na vida.”
“Exatamente por isso”, prosseguiu imperturbável o doutor Peabody, “eu não
me preocuparia com isso. Que fique aí. Ninguém dá a mínima para a aparência
da sua cara. Seria diferente se você fosse jovem, virando a cabeça das garotas
toda noite...”
“Se permitirem que o doutor Peabody interfira dessa maneira...”, começou o
doutor Alford.
“Will Falls disse que sabe como curar isso”, comentou Bayard.
“Com aquele unguento dele?”, perguntou de imediato o doutor Peabody.
“Unguento?”, repetiu o doutor Alford. “Coronel Sartoris, se o senhor
permitir que qualquer charlatão que apareça trate desse tumor com mezinhas e
xaropes de feira, o senhor estará morto em seis meses. Até o doutor Peabody vai
concordar comigo”, acrescentou com requintada ironia.
“Sei não”, respondeu lentamente o doutor Peabody. “Will já conseguiu
resultados muito bons com esse unguento dele.”
“Tenho de protestar contra isso”, disse o doutor Alford. “Senhora Du Pre,
não posso aceitar que um colega profissional endosse, mesmo negativamente,
esse tipo de procedimento.”
“Calma, garoto”, replicou o doutor Peabody, “não vamos deixar que Will
coloque o seu preparado na verruga do Bayard. Ele serve para os crioulos e os
bichos, mas Bayard não precisa disso. O que vamos fazer é não bulir com essa
coisa, pelo menos enquanto não o incomodar.”
“Se esse tumor não for extirpado imediatamente, lavo minhas mãos de
qualquer responsabilidade”, declarou o doutor Alford. “Negligenciar isso seria
tão fatal quanto o unguento do senhor Falls. Senhora Du Pre, peço que seja
testemunha de que esta consulta está tomando uma direção pouco ética, não por
minha culpa e sob os meus protestos.”
“Calma, rapaz”, repetiu o doutor Peabody, “isso é uma ninharia que mal vale
o trabalho de cortar. Vamos guardar para você um braço ou uma perna quando o
louco do neto dele capotar aquele carro com todos eles. Agora venha comigo,
Bayard.”
“Senhora Du Pre...”, tentou ainda o doutor Alford.
“O Bayard pode voltar depois, se quiser”, disse o doutor Peabody, dando
tapinhas no ombro do colega mais jovem com sua mão pesada.
“Vou levá-lo ao meu consultório para conversarmos um pouco. Jenny pode
trazê-lo de volta, se ela quiser. Vamos, Bayard.” E ele conduziu o Bayard Velho
para fora da sala. A senhorita Jenny também se levantou.
“Esse Loosh Peabody é tão caturra quanto o velho Will Falls”, disse ela.
“Essa gente velha acaba comigo. Espere um pouco que vou arrastá-lo de volta e
aí resolvemos esse negócio.” O doutor Alford segurou a porta aberta, e ela
passou, furiosamente resoluta e coberta de seda, saindo do consultório atrás do
sobrinho pelo corredor afora e entrando pela porta escalavrada com o cadeado
enferrujado, acabando em um aposento que mais parecia uma devastação
ciclônica em miniatura, pacificada com pó antigo e imperturbado.
“Você, Loosh Peabody”, exclamou a senhorita Jenny.
“Sente-se aí, Jenny”, ordenou o doutor Peabody. “E fique quieta. Abra a
camisa, Bayard.”
“O quê?”, respondeu beligerante o Bayard Velho. O outro o empurrou para
uma cadeira.
“Quero ver seu peito”, explicou. Foi até uma antiga escrivaninha de tampo
corrediço e vasculhou entre a mixórdia empoeirada. Havia coisas espalhadas e
poeira por toda a imensa sala. Suas quatro janelas davam para a praça, mas os
olmos e os plátanos enfileirados nas laterais desta ensombreciam os escritórios
no primeiro andar, de tal modo que a luz chegava ali atenuada, como uma
luminosidade subaquática.
Nos cantos do teto viam-se teias de aranha espessas e pesadas como barba-
de-velho e desbotadas como renda antiga, e as paredes antes brancas agora
exibiam uma uniforme e opaca tonalidade pardacenta, com exceção de um
retângulo mais claro aqui e ali onde um calendário antiquado havia sido
pendurado e removido. Além da escrivaninha, o cômodo continha três ou quatro
cadeiras desemparelhadas em várias etapas de decrepitude, um fogareiro
enferrujado dentro de uma caixa com serragem e um sofá de couro preservando
mudamente entre as molas rompidas o perfil da forma recumbente do doutor
Peabody; ao lado dele, acumulando lentamente sucessivas camadas de pó,
empilhavam-se romances baratos com capas moles e coloridas. Essa era a
biblioteca do doutor Peabody, e nesse sofá ele passava o tempo em seu
consultório, lendo-os e relendo-os sem cessar. Quanto a outros livros, não havia
nenhum.
Mas a lata de lixo ao lado da escrivaninha, a própria escrivaninha e o console
da lareira, assim como os peitoris das janelas, estavam todos atulhados de
correspondência comercial, catálogos de compras pelo correio e boletins oficiais
de todos os tipos. Em um dos cantos, sobre uma caixa virada de cabeça para
baixo, via-se um suporte com um garrafão de água de vidro colorido oxidado;
em outro, um feixe de varas de pescar deformava-se lentamente sob o próprio
peso; e toda superfície horizontal estava ocupada por uma coleção de objetos só
encontrável em lojas de artigos de segunda mão — roupas, garrafas, uma
lamparina de querosene, uma caixa de madeira com latinhas de graxa para eixos,
uma das quais estava faltando; um relógio com o formato de uma desinteressante
ipomeia de louça sustentada por quatro donzelas com grinaldas afligidas por
variados e assombrosos infortúnios anatômicos, e aqui e ali, entre a mixórdia
poeirenta, diversos instrumentos pertencentes à profissão do ocupante. Era um
deles que o doutor Peabody agora procurava em meio à confusão de sua
escrivaninha, na qual havia uma única foto com moldura de madeira, e embora a
senhorita Jenny insistisse, “Você, Loosh Peabody, preste atenção no que vou
dizer”, ele prosseguiu em sua busca com uma bonomia sossegada e indiferente.
“E você abotoe a camisa que vamos voltar lá naquele médico”, a senhorita
Jenny ordenou ao sobrinho. “Nem você nem eu podemos desperdiçar nosso
tempo com esse velho tolo e decrépito.”
“Senta aí, Jenny”, repetiu o doutor Peabody, puxando uma gaveta e tirando
de lá uma caixa de charutos, um punhado de iscas de truta artificiais e
desbotadas, um colarinho sebento e, por fim, um estetoscópio; em seguida,
enfiou todas as outras coisas de volta na gaveta e a fechou com o joelho.
A senhorita Jenny sentou-se espigada e furiosa enquanto ele auscultava o
coração do Bayard Velho.
“Bem”, ela não se conteve, “isto aí lhe diz como tirar a verruga do rosto
dele? Will Falls não precisou de nenhum telefone para descobrir isso.”
“Isto me diz muitas outras coisas”, respondeu o doutor Peabody. “Diz que
Bayard vai acabar se livrando de todos os seus problemas, caso continue a
passear no carro daquele alucinado.”
“Besteira”, disse a senhorita Jenny. “Bayard dirige muito bem. Nunca andei
com um motorista tão bom.”
“Vai ser preciso mais do que um bom motorista para manter isso”, bateu no
peito de Bayard com seu dedo rombudo, “funcionando, se aquele menino
continuar derrapando pelas curvas como o vi fazer.”
“Você já ouviu falar de um Sartoris morrendo de causas naturais, como todo
o mundo?”, perguntou a senhorita Jenny. “Você não sabe que nenhum coração
vai levar embora o Bayard antes da hora certa? Agora levante-se daí e venha
comigo”, acrescentou para o sobrinho.
Bayard abotoou a camisa. O doutor Peabody ficou sentado no sofá,
observando-o placidamente.
“Bayard”, disse de repente, “por que você não fica longe daquela coisa
maldita?”
“O quê?”
“Se não ficar longe daquele carro, você não vai precisar nem de mim nem do
Will Falls, tampouco desse rapaz aí do lado com todos os seus bisturis
esterilizados à mão.”
“Desde quando isso é da sua conta?”, perguntou o Bayard Velho. “Santo
Deus, não posso quebrar o pescoço em paz, se quiser?” Ele se ergueu. Estava
tremendo, tentando fechar os botões do colete, e a senhorita Jenny também se
levantou e foi ajudá-lo, mas ele a afastou com brusquidão. O doutor Peabody
continuou sentado quieto, tamborilando os dedos gordos no joelho gordo. “Já
vivi mais do que devia”, prosseguiu mais afável Bayard Velho. “Até onde sei,
sou o primeiro da família a chegar aos sessenta. Suponho que o Velho lá de cima
esteja me mantendo aqui para ser uma testemunha confiável da extinção dela.”
“Chega”, disse gelidamente a senhorita Jenny, “você já fez o seu discurso, e
Loosh Peabody perdeu a manhã por sua causa, então acho que agora podemos ir
e deixar que Loosh saia e cuide um pouco de suas mulas, e você pode ficar
sentado o resto do dia, como um bom Sartoris, sentindo pena de si mesmo. Bom
dia, Loosh.”
“Faça com que ele deixe essa coisa em paz”, disse o doutor Peabody.
“Você e Will Falls não vão dar um jeito nisso?”
“Cuide para que ele não deixe Will Falls passar nada ali”, repetiu afável o
doutor Peabody. “Está tudo bem, é só deixar quieto.”
“Nós vamos consultar um médico, é isso o que vamos fazer”, replicou a
senhorita Jenny. “Vamos embora.”
Quando a porta se fechou, o doutor Peabody ficou sentado imóvel, ouvindo
enquanto discutiam no lado de fora. Em seguida, o som da voz deles moveu-se
pelo corredor na direção da escada e, ainda aos brados e, da parte do Bayard
Velho, com uma ênfase nas imprecações, as vozes foram se atenuando. Aí o
doutor Peabody reclinou-se no sofá que já estava adaptado à forma do seu corpo,
e com deliberação casual pegou às cegas um dos romances baratos de aventura
na pilha ao lado.
4.
Quando se aproximavam do banco, Narcissa Benbow vinha da direção
oposta com um vestido claro, e se encontraram diante da porta, onde ele fez-lhe
um desajeitado elogio à aparência, e ela gritou com sua voz grave para vencer a
surdez do velho. Depois ele se acomodou em sua cadeira inclinada, e a senhorita
Jenny acompanhou Narcissa até o guichê do caixa. Não havia ninguém atrás da
partição naquela hora, a não ser o guarda-livros. Este lançou-lhes um breve e
dissimulado olhar de esguelha, e depois deslizou para fora da banqueta e
aproximou-se da grade, mas sem voltar a erguer os olhos.
Ele tomou o cheque de Narcissa e ela, enquanto ouvia a recapitulação que
fazia a senhorita Jenny da teimosia e estupidez masculina de Bayard e Loosh
Peabody, notou os pelos ruivos que recobriam os braços do guarda-livros até a
segunda junta dos dedos, dando-se conta com ligeira mas nítida repugnância, e
um pouco de curiosidade, pois não estava fazendo tanto calor, do fato de que as
mãos e os braços dele estavam cobertos de gotículas de suor.
Então ela deixou que seus olhos se velassem de novo, recolheu as notas que
ele passara pela abertura da grade e abriu a bolsa para guardá-las. Na abertura de
cetim azulado despontaram de repente o canto de um envelope e algo do
sobrescrito, mas logo ela o empurrou para longe da vista, guardou o dinheiro e
fechou a bolsa. Elas se viraram, a senhorita Jenny ainda falando, e ela parou de
novo junto à porta, envolta em sua imaculada aura de quietude, enquanto o
Bayard Velho fazia seus comentários sobre os imaginários assuntos do coração
que proporcionavam o único tema de conversa entre ambos, e gritou-lhe de volta
serenamente. Em seguida foi embora, circundada por uma tranquilidade similar a
uma presença palpável ou um aroma ou um som.
Durante o tempo todo em que permaneceu visível, o guarda-livros ficou
junto à grade do caixa. A cabeça estava inclinada e sua mão traçava uma série de
figuras nítidas e desprovidas de sentido no bloco que ficava sobre o balcão. Aí
ela se moveu e saiu de seu campo de visão. Ele também se afastou e, ao fazer
isso, viu que o bloco havia grudado ao seu pulso úmido, e quando mexeu o braço
ele veio junto. Então o próprio peso do bloco o libertou e ele caiu no chão.
Após o fechamento do banco naquela tarde, Snopes atravessou a praça,
entrou por uma transversal e se aproximou de um edifício quadrado com varanda
dupla, do qual a lamurienta cacofonia de um fonógrafo derramava-se pela tarde.
Ele entrou no prédio. A música vinha de um quarto à direita e, ao passar por sua
porta, viu um homem em mangas de camisa sentado numa cadeira com os pés,
ainda com as meias, apoiados em outra, fumando cachimbo, o cheiro forte e
desagradável seguindo-o pelo corredor. Este recendia a sabão viscoso e
adstringente, e o linóleo do piso reluzia, ainda molhado. Ele seguiu por ali e
aproximou-se de um ruído de atividade contínua e furiosa, topando com uma
mulher em um vestido cinzento e disforme, que parou de esfregar o chão e o
fitou por sobre o ombro cinzento, afastando o cabelo liso da testa com um
antebraço corado.
“Tarde, senhora Beard”, disse Snopes. “Virgil já voltou?”
“Passou por aqui um minuto atrás”, respondeu ela. “Se não tiver aí em frente,
imagino que o pai tenha mandado ele fazer algo. O senhor Beard tá de novo com
um daqueles achaques na coxa. Pode ter mandado o Virgil buscar algo.” O
cabelo dela voltou a cair sobre o rosto. De novo ela o afastou com um gesto
brusco. “O senhor tem mais trabalho pra ele?”
“Tenho, sim. A senhora não sabe pra que lado ele foi?”
“Se o senhor Beard não mandou ele pra nenhum lugar, ele deve estar no
quintal dos fundos. Ele não costuma se afastar muito.” Mais uma vez ela afastou
do rosto o cabelo liso; acostumada desde muito a trabalhar, seus músculos
ficavam impacientes com qualquer inatividade.
Ela agarrou o esfregão de novo.
Snopes continuou em frente e parou nos degraus da cozinha que davam para
uma área fechada de terra batida, onde havia um galinheiro, também de terra, no
qual um punhado de aves se juntavam ou se moviam confusas e desoladas em
meio à poeira. Num dos lados via-se uma pequena horta com canteiros
ordenados e bem cuidados.
E no canto do quintal havia uma espécie de latrina, feita de tábuas
descoradas.
“Virgil”, chamou. O quintal estava povoado de fantasmas; fantasmas de
ervas frustradas, de comida sob a forma de latas vazias, de caixas e barris
desconjuntados; uma pilha de lenha para fogão e um cepo no qual jazia
atravessado um machado cujo cabo fora remendado com um arame enferrujado e
mal amarrado. Ele desceu os degraus e as galinhas levantaram um clamor
desafinado, na expectativa de alimento.
“Virgil.”
Os pardais encontravam algum tipo de nutrição na poeira entre as aves, mas
estas, talvez com um pressentimento de frustração e perdição, aglomeravam-se
de uma ponta a outra da cerca, desentendidas e confusas, fitando-o com olhos
importunos e predatórios. Ele estava prestes a se virar e voltar à cozinha quando
o menino surgiu, silenciosa e inocentemente, vindo da latrina, com seu cabelo
cor de palha e olhos inexpressivos. Sua boca era pálida e quase agradável, mas
dissimulada nos cantos. O queixo era quase inexistente.
“Olá, senhor Snopes. Tava me procurando?”
“Estava. Se você não estiver fazendo nada de especial”, respondeu Snopes.
“Tô não”, disse o menino.
Entraram na casa e passaram pelo aposento onde a mulher se esfalfava em
uma fúria monótona. O fedor do cachimbo e a lúgubre reiteração do fonógrafo
preenchiam o vestíbulo, e eles subiram a escada também revestida de linóleo,
preso a cada degrau por uma traiçoeira barra plana de ferro que recebera um
tratamento para ficar parecida com latão, e que estava desgastada e marcada por
pés pesados. Em ambos os corredores do andar superior havia fileiras idênticas
de portas. Foi por uma delas que entraram.
O quarto tinha como mobília uma cama, uma cadeira, uma penteadeira e um
lavatório, ao lado do qual ficava uma vasilha para a água servida. O piso estava
recoberto por uma esteira de palha, puída aqui e ali. A única lâmpada pendia sem
pantalha de um fio verde pardacento.
Na parede sobre a lareira atulhada de papéis, em uma litografia emoldurada,
uma donzela índia com uma imaculada veste de pele de gamo inclinava o busto
nu sobre um convencional tanque de mármore italiano iluminado pelo luar. Ela
segurava um violão e uma rosa, e pardais empoeirados estavam pousados no
peitoril da janela e os contemplavam animados através do vidro empoeirado.
O menino entrou educadamente. Seus olhos claros abrangeram de um golpe
o quarto e tudo o que havia nele. Então disse: “Não chegou ainda a espingarda
de chumbo, senhor Snopes?”
“Não, ainda não”, respondeu Snopes. “Mas logo, logo chega.”
“Faz tempo que o senhor encomendou.”
“É verdade. Mas logo ela chega. Talvez não tivessem em estoque, no
momento.” Ele foi até a cômoda e tirou de uma gaveta algumas folhas de papel,
colocando-as sobre o tampo da cômoda; aproximou uma cadeira e puxou a mala
que estava embaixo da cama e a colocou sobre a cadeira. Depois pegou a caneta-
tinteiro no bolso, tirou a sua tampa e a pôs ao lado do papel. “Deve chegar
qualquer dias desses, agora.”
O menino acomodou-se sobre a mala e empunhou a caneta. “Lá no armazém
do Watts tem”, sugeriu.
“Se aquela que encomendamos não chegar logo, a gente compra lá”, disse
Snopes. “Quando foi mesmo que fizemos a encomenda?”
“Na terça da semana passada”, respondeu o menino sem hesitar.
“Eu anotei o dia.”
“Bem, logo ela estará aqui. Tudo pronto?”
O menino se ajeitou diante do papel. “Sim, senhor.” Snopes então retirou um
papel do bolsinho da calça e o desdobrou.
“Número de código quarenta e oito. Senhor Joe Butler, Saint Louis,
Missouri”, ele leu e depois se inclinou sobre o ombro do menino, de olho na
caneta. “Isso mesmo, bem perto da borda de cima”, elogiou. “Vamos lá.”
A mão do menino desceu cerca de duas polegadas abaixo na folha e,
enquanto Snopes lia, ele transcrevia tudo com sua nítida letra de caligrafia, só
parando vez por outra quando tinha dúvida sobre a grafia de alguma palavra.
“‘Cheguei a pensar que tentaria esquecer de você. Mas não posso esquecer
você pois você não pode me esquecer. Hoje vi minha carta em sua bolsa. Você
não tem ideia de todas as vezes que posso estender a mão e tocar em você. Só de
ver você andando na rua Sabendo o que eu sei e o que você sabe. Um dia nós
dois vamos saber junto quando você se acostumar com isso. Você guardou minha
carta mas não responde. Esse é um bom sinal que você...’” O menino havia
chegado ao pé da página. Snopes a retirou, colocando no lugar outra folha. Ele
retomou a leitura com sua voz monótona e sem inflexão:
“‘...não me esquece pois não guardaria ela. À noite penso em você em como
você anda pela rua como se eu fosse lixo. Vou dizer uma coisa que vai deixar
você surpresa eu sei mais do que ver você andando na rua vestida. Algum dia
vou dizer e aí você não vai ficar surpresa. Você passa por mim e não sabe que eu
sei. Mas um dia você vai saber. Porque eu vou dizer.’ Pronto”, concluiu, e o
menino deslizou a mão até o fim da folha. “‘Do seu criado, Hal Wagner. Código
de número vinte e quatro.’”
Ele voltou a espiar sobre os ombros do menino. “Tá bom.” Passou o mata-
borrão sobre a última folha e a recolheu. O menino colocou a tampa na caneta e
afastou a cadeira, enquanto Snopes tirava do casaco um saquinho de papel.
O menino o recebeu sem entusiasmo. “Obrigado, senhor Snopes”, disse. Aí
ele abriu o saco e espiou dentro. “Estranho que a espingarda não chegou ainda.”
“Também acho”, concordou Snopes. “Não sei por que ainda não veio.”
“Talvez tenha sido perdida no correio”, sugeriu o menino.
“É possível. Imagino que deve ter sido algo assim. Amanhã vou escrever
para eles.”
O menino se levantou, mas ficou parado com seu cabelo cor de palha e sua
expressão afável e inocente. Tirou uma bala do saquinho e a chupou
desanimado. “Acho que o melhor é pedir ao papai, aí ele vai no correio e
pergunta se eles perderam ela.”
“Não, acho melhor não fazer isso”, disse prontamente Snopes. “Vamos
esperar um pouco mais; vou cuidar disso. Não se preocupe, logo ela chega, tenho
certeza.”
“O papai não se importa. Ele pode dar um pulo lá assim que chegar em casa
e ver o que aconteceu. Eu até podia ir atrás dele agora mesmo e pedir que visse
isso, acho.”
“Ele não vai poder ajudar em nada”, replicou Snopes. “Deixa isso comigo.
Vou conseguir essa espingarda, pode acreditar.”
“Eu poderia dizer a ele que tenho feito uns serviços para o senhor”,
continuou o menino. “Eu me lembro dessas cartas.”
“Não, não, espera mais um pouco e deixa que eu resolvo tudo. Vou cuidar
disso amanhã logo de manhã.”
“Está bem, senhor Snopes.” Ele pôs na boca outra bala, sem entusiasmo.
Então foi até a porta. “Eu lembro de cor de cada uma dessas cartas. Aposto que
poderia sentar e escrever todas elas de novo. Aposto que consigo. Conta para
mim, senhor Snopes, quem é Hal Wagner? Ele mora em Jefferson?”
“Não, não mora. Você nunca viu ele. Ele só vem para a cidade muito de vez
em quando. É por isso que estou cuidando dos negócios para ele. Deixa comigo
que vou ver o que aconteceu com a espingarda, pode confiar.”
O menino abriu a porta e parou de novo. “Tem espingarda lá no armazém do
Watts. Não são nada ruins. Eu gostaria muito de ter uma delas. Sim, senhor,
gostaria mesmo.”
“Claro, claro”, repetiu Snopes. “A nossa vai chegar aqui amanhã. Espere um
pouco mais; faço questão que você tenha uma espingarda assim.”
O menino partiu. Snopes trancou a porta e, por um instante, ficou ao lado
dela com a cabeça tombada, torcendo e retorcendo lentamente as mãos. Depois
pegou o papel dobrado e o queimou na lareira e triturou com o calcanhar os
restos carbonizados até virarem pó. Com uma faca cortou o cabeçalho no alto da
primeira folha e a assinatura ao pé da segunda, e em seguida as dobrou e meteu
em um envelope barato. Ele o fechou e colou os selos; então pegou a caneta e,
com a mão esquerda, endereçou o envelope com laboriosas letras de forma.
Naquela mesma noite levou a carta até a estação e a despachou pelo trem.
Na tarde seguinte, Virgil Beard matou um sabiá. Ele estava cantando em um
pessegueiro que havia crescido no canto do galinheiro.
5.
De tempos em tempos, enquanto zanzava de um lado para o outro, cuidando
de ninharias, Simon olhava para além do pátio, na direção do pasto, e via os
cavalos da charrete com a aparência cada vez pior e menos altiva devido à
inatividade e à falta do tratamento corriqueiro, ou então passava diante da
charrete esquecida em seu barracão, o timão tombado em ângulo acusatório,
enquanto no lugar dos arreios o guarda-pó e a cartola acumulavam lentamente
poeira, dependurados na parede, guardando também em sua muda espera uma
resignação paciente e interrogadora. Por vezes, quando se postava decrépito e
um pouco arqueado, com obstinada perplexidade e senilidade, na varanda com
suas antigas rosas e glicínias e toda a sua espaçosa e firme serenidade, e via os
Sartoris circulando de lá para cá em uma máquina que teria sido desdenhada por
um cavalheiro de sua época e que podia ser comprada por qualquer indigente e
usada por qualquer tolo, parecia-lhe então sentir ao lado a presença de John
Sartoris, com seu semblante anguloso e barbado e uma expressão de desprezo
requintado e altivo.
Enquanto ali estava, em meio aos raios de sol da tarde inclinados na
extremidade sul do alpendre, os intensos e incontáveis aromas da primavera cada
vez mais presentes, o sonolento zum-zum dos insetos e o canto incessante dos
pássaros, Isom, no lado fresco da soleira ou no canto da casa, de repente ouvia o
avô murmurando uma litania monótona na qual despontavam incompreensão e
petulância e lamúria; e Isom se retirava para a cozinha, onde sua mãe, de plácido
rosto amarelado, cantarolava e trabalhava sem parar.
“O vô tá lá fora falando com o nhô velho de novo”, Isom contou a ela.
“Deixa eu comer essas batata fria, mami.”
“Sinhá Jenny num arrumou nada pra você fazer nesse fim de tarde?”,
perguntou Elnora, passando-lhe as batatas.
“Nada. Saiu de carro de novo.”
“Graças a Deus que você e ela não foram os dois no carro, como você faz
sempre que o nhô Bayard deixa. Agora chispa da minha cozinha. Acabei de
passar pano no chão e não quero ver nenhuma sujeira.”
Nesses dias era comum Isom ouvir o avô conversando com John Sartoris
enquanto trabalhava no estábulo ou nos canteiros de flores ou no relvado,
resmungando sem parar com aquela sombra arrogante que dominava a casa e a
vida que ali se passava e a própria paisagem, através da qual a ferrovia que ele
construíra se estendia ao longe. Mas nítida e com uma verissimilitude
miniaturizada, como se fosse um cenário teatral para a diversão dele, cujo sonho
insistente, esquivando-se dele de modo tão errante e ardiloso quando ainda era
um sonho impuro, tornara-se nítido e claro, agora que o sonhador fora redimido
da obtusidade do orgulho juntamente com o da carne.
“A carruagem de um cavalheiro!”, resmungou Simon. Estava ocupado de
novo com a enxada no canteiro de sálvia do caminho de entrada junto à casa.
“Andando naquela traquitana, enquanto uma carruagem digna de um cavalheiro
apodrece e estraga no estábulo.” Não estava pensando na senhorita Jenny. Não
fazia muita diferença no que as mulheres andavam, desde que seus homens
permitissem. Seja como for, elas apenas ostentavam a carruagem de um
cavalheiro; não passavam de barômetros da condição social dele, o reflexo da
fidalguia dele: até mesmo os cavalos sabiam disso.
“O próprio filho, o próprio neto gêmeo, passeando na cara dele em uma
traquitana como essa”, prosseguiu, “e o sinhô num falando nada. O sinhô é tão
culpado quanto eles. Tinha de pôr uma regra pra eles, sinhô John. Com todas
essas guerra longe os jovem acaba perdendo o rumo e não sabe mais ter modo de
cavalheiro. O que o sinhô acha que as pessoa vai pensar quando vir seu próprio
pessoal andando por aí no mesmo tipo de traquitana que a ralé anda? O sinhô
precisa se impor de novo, sinhô John. Não tinha os Sartoris se destacado nessa
terra muito antes da guerra? Agora olha o que tão fazendo.”
Apoiando-se na enxada, viu o carro avançando pelo caminho de entrada e
parando diante da casa. A senhorita Jenny e o jovem Bayard saltaram e subiram
até a varanda. O motor ainda estava ligado, um débil bruxulear do escapamento
pairou na claridade matinal, e Simon aproximou-se com a enxada e espiou o
conjunto de mostradores e botões no painel. Bayard virou-se junto à porta e o
chamou.
“Desligue isso, Simon”, ordenou.
“Desligar o quê?”, retrucou Simon.
“Aquela pequena alavanca brilhante perto da direção, ali. Puxe para baixo.”
“Não, sinhô”, respondeu Simon, afastando-se. “Num vô bulir nisso. Num
quero vê isso explodir na minha cara.”
“Não vai acontecer nada”, disse Bayard com impaciência. “É só colocar a
mão em cima e puxar para baixo. É essa coisinha aí.”
Sem se aproximar, Simon examinou temeroso os controles e as coisas; então
girou mais o pescoço e olhou de longe para o carro. “Só estou vendo uma
alavanca grande que sai reta do piso. Não é isso que o sinhô tá falando, é?”
“Que inferno!”, disse Bayard. Então desceu os degraus em dois passos,
inclinou-se sobre a porta do carro e puxou a alavanca sob o olhar curioso e
piscante de Simon. O ronronar do motor parou.
“Ah, bom”, disse, “então era isso que o sinhô tava falando?” Ele contemplou
a alavanca um instante, depois se aprumou e olhou para o capô. “Tá bem quente
aí embaixo, num tá? É assim que o sinhô para o motor?” Mas Bayard havia
galgado de novo os degraus e entrado na casa.
Simon ainda ficou por ali mais um pouco, examinando a coisa reluzente e
comprida, tocando-a levemente com a mão e em seguida esfregando a mão na
coxa. Rodeou-a lentamente e encostou a mão nos pneus, murmurando para si
mesmo e balançando a cabeça.
Depois voltou ao canteiro de sálvia, onde Bayard, ressurgindo em seguida, o
encontrou.
“Quer dar uma volta, Simon?”, disse.
A enxada de Simon se imobilizou e ele endireitou o corpo. “Quem, eu?”
“Claro. Vamos lá. Vamos andar um pouco pela estrada.”
Simon continuou parado segurando a enxada, coçando lentamente a cabeça.
“Vamos lá”, disse Bayard, “vamos apenas andar um pouco na estrada. Não
vai fazer nenhum mal.”
“Não, não, sinhô”, concordou Simon, “não acho que isso vai me fazer mal.”
Aceitou ser conduzido gradualmente até o carro, fitando suas várias partes
com um olhar especulativo lento, piscando sem parar, agora que aquilo ia virar
um elemento concreto em sua existência.
Junto à porta e com um dos pés no estribo, ainda fez uma derradeira tentativa
contra o poder sutil das tentações malignas. “O sinhô não vai passar com ele
pelos arbusto como o sinhô e Isom fizeram outro dia, vai?”
Bayard o tranquilizou e ele entrou lentamente, com gemidos de aflição
antecipada, e sentou-se sem tocar no encosto e com os pés recolhidos, agarrando
a porta com uma das mãos e, com a outra, um pedaço de sua camisa na altura do
peito quando o carro se pôs em movimento. Mesmo depois de terem passado
pelas porteiras e chegado à estrada, ele ainda estava curvado no assento. O carro
ganhou velocidade e Simon, com um repentino movimento brusco, agarrou o
chapéu quando ele voou de sua cabeça.
“Acho que já tá bom, não é?”, sugeriu, erguendo a voz. Afundou o chapéu na
cabeça, mas assim que tirou a mão, teve de segurá-lo desesperadamente de novo;
por fim o tirou, mantendo-o preso debaixo do braço, enquanto a mão agitava-se
no peito e agarrava algo por debaixo da camisa. “Tenho de limpar as ervas
daquele canteiro agora de manhã”, disse ele, ainda mais alto. “Por favor, sinhô,
nhô Bayard”, acrescentou, e seu corpo velho e encarquilhado avançou ainda
mais para a ponta do banco enquanto lançava olhares rápidos e dissimulados à
vegetação que passava cada vez mais rápida à beira da estrada.
Então Bayard inclinou-se para a frente e Simon viu o antebraço dele se
retesar, e aí o carro disparou em meio a um som ribombante, como o de um
trovão indistinto. O solo, a inverossímil faixa da estrada, se desfez sob eles,
dispersando-se em uma alucinante nuvem de pó, e a vegetação à margem virou
um túnel rígido e fluido e incessante.
Mas ele não pronunciou nenhuma palavra, não emitiu nenhum outro som, e
quando logo depois Bayard exibiu-lhe de soslaio seus dentes cruéis e
zombeteiros, Simon estava de joelhos no piso do carro, seu velho e lamentável
chapéu sob o braço e uma das mãos ainda fechada sobre uma dobra da camisa na
altura do peito. Mais tarde Bayard voltou a lançar-lhe um olhar de viés, e Simon
estava com os olhos cravados nele com as íris turvas que já não eram mais de um
castanho desbotado e sem pupila. Seus olhos agora estavam rubros e, por causa
do vento, estavam esbugalhados, e neles reluzia a fosforescência irracional dos
olhos dos animais. Bayard pisou no acelerador até o fim.
A carroça avançava sonolenta e pacata pela estrada. Era puxada por duas
mulas e carregava mulheres negras dormitando em cadeiras.
Algumas usavam ceroulas. As próprias mulas nem chegaram a despertar,
mas continuaram seguindo morosamente com a carroça vazia e as cadeiras
reviradas, mesmo quando o carro desviou-se ruidosamente pela valeta rasa e
retornou à estrada mais adiante, arremetendo com um estrondo sem reduzir a
velocidade. O trovão amainou, mas o carro continuou sendo levado por sua
própria inércia e começou a ziguezaguear enquanto Bayard tentava afastar as
mãos de Simon da alavanca de ignição. Mas Simon ajoelhou-se no piso do carro
com os olhos bem fechados e a lufada de ar revirando os resquícios grisalhos de
seu cabelo, agarrando a alavanca com ambas as mãos.
“Larga isso!”, gritou Bayard.
“É assim que para isso, meu Deus! É assim que para isso, meu Deus!”,
entoou Simon, segurando a alavanca entre as mãos, enquanto Bayard as socava
com o pulso fechado. E ficou nessa posição até o carro reduzir a velocidade e
parar. Em seguida remexeu na porta até conseguir abri-la e saltou para fora.
Bayard o chamou, mas ele tomou o caminho de volta pela estrada claudicando
rapidamente.
“Simon!”, voltou a chamar Bayard. Mas Simon afastou-se rigidamente,
como alguém que tivesse ficado sem usar as pernas por muito tempo. “Simon!”
Ele não reduziu o passo nem olhou para trás, e Bayard ligou de novo o carro e o
levou até um trecho em que podia manobrá-lo e fazer meia-volta. Simon estava
parado na valeta junto à estrada, a cabeça caída nas mãos, quando Bayard o
alcançou e parou.
“Venha aqui e entre”, mandou.
“Não, sinhô. Vou a pé.”
“Entre aqui agora”, Bayard ordenou com rispidez. Ele abriu a porta, mas
Simon ficou na valeta com a mão sob a camisa, e Bayard podia ver que ele
estava tremendo como se tivesse calafrios de febre.
“Vamos, entre, velho bobo; não vou te machucar.”
“Volto a pé pra casa”, repetiu Simon teimosamente e já mais calmo.
“O sinhô volta nessa coisa.”
“Entra aqui, Simon. Não sabia que ia ficar tão assustado. Prometo que não
corro. Vamos, suba.”
“O sinhô volta pra casa”, Simon voltou a dizer. “Eles vão ficar preocupados
com o sinhô. E aí o sinhô conta pra eles onde estou.”
Bayard o fitou, mas como Simon não retornou o olhar, bateu a porta e partiu.
Tampouco aí Simon ergueu os olhos, nem quando, mais adiante, o carro voltou a
trovejar e a levantar uma muda nuvem de poeira que se desfez lentamente.
Pouco depois a carroça emergiu da poeira, com as mulas agora em trote
acelerado, com as orelhas balançando, e passou tilintando por ele, deixando em
seu rastro, em meio ao ar poeirento e ao zum-zum irritante dos insetos, uma
trêmula voz feminina desarticulada pela histeria. Enquanto esta esvaía-se
lentamente pelas tremeluzentes paragens do vale, Simon retirou de sob a camisa
um objeto preso por um encardido cordão ao seu pescoço.
Pequeno e disforme, estava recoberto de pelos sujos — a primeira junta da
perna traseira de um coelho, supostamente capturado em um cemitério em noite
de véspera de lua nova, e Simon o esfregou na testa e na nuca cobertas de suor;
em seguida colocou-o de volta junto ao peito. Suas mãos ainda tremiam quando
ele ajeitou o chapéu na cabeça e voltou para a estrada, tomando o rumo de casa
no meio-dia poeirento.
Bayard seguiu pelo vale na direção da cidade, passando diante dos portões de
ferro e da serena casa branca entre as árvores a toda velocidade. O ruído do
motor desprovido de silencioso irrompia entre a poeira e a rodopiava em formas
expansivas e letárgicas, extinguindo-se mais além nos campos cultivados. Pouco
antes de entrar na cidade topou com outra carroça e manteve o carro em seu
curso até que as mulas se sobressaltaram e a fizeram tombar; só então desviou e
acelerou ao passar a menos de uma polegada da carroça, tão perto que o negro
aos berros pôde ver a escancarada e selvagem derrisão de seus dentes.
Ele continuou a toda velocidade. Arremetendo com a aceleração contida por
um aclive, de repente surgiu e ficou para trás o cemitério com a pomposa efígie
de seu avô, e veio-lhe à mente o velho Simon arrastando-se pela estrada
poeirenta a caminho de casa, apertando na mão o pé de coelho, e então sentiu-se
cruel e envergonhado.
A cidade entre as árvores, as ruas sombreadas como túneis verdejantes, ao
longo das quais existências restritas consumavam suas pacatas tragédias.
Acionou o silenciador e, em marcha moderada, aproximou-se da praça. No
edifício do tribunal, as quatro faces do relógio erguiam-se sobre o arvoredo,
vislumbradas aqui e ali entre os arcos formados pelas árvores. Dez para o meio-
dia. Às doze em ponto, seu avô se recolhia ao escritório nos fundos do banco
para beber o quartilho de leitelho que todas as manhãs trazia consigo em uma
garrafa de vácuo, e depois dormia lá mesmo por uma hora num sofá. Quando
Bayard entrou com o carro na praça, a cadeira inclinada à porta do banco já
estava vazia. Ele reduziu a velocidade e parou perto de um cartaz-sanduíche
exposto na calçada.
“Hoje Bagre Fresco”, anunciava a placa em letras desenhadas com giz, e
através das portas de tela vinha um cheiro de comida já pronta — queijo, picles e
similares — com um leve odor de óleo de fritura.
Ficou parado na calçada enquanto a multidão do meio-dia se dividia e
passava por ele: negros lerdos e desnorteados como figuras de um sonho escuro
e plácido, exalando um odor animal, sussurrando e rindo entre eles; havia
naquela murmuração sem consoantes uma predisposição à alegria, e algo grave e
triste no riso deles; gente do campo, os homens de macacão, calças de veludo ou
velhas fardas de brim, sem gravata, e as mulheres com vestidos de chita e toucas
contra o sol, empunhando palitos para consumir rapé; grupos de moças com
impecáveis vestidos comprados pelo correio, os corpos jovens e graciosos já
turvados pela inibição, pela pouca familiaridade e o esforço de usar saltos altos,
e prestes a serem obscurecidos para sempre por sucessivos partos; meninos e
rapazes com paletós, camisas e bonés baratos e deselegantes, bronzeados e bem-
proporcionados como cavalos de corrida, beligerantemente espalhafatosos.
Encostado a um muro, de cócoras, um negro cego, com um violão e uma
armação metálica que sustentava uma gaita de boca diante dos seus lábios,
ordenava o fundo de cheiros e ruídos com uma lamurienta reiteração de acordes
opulentos e monótonos, tão compassados quanto uma fórmula matemática, mas
desprovidos de melodia. Tinha pelo menos quarenta anos e a paciente resignação
de alguém que havia muito perdera a visão; também ele vestia um casaco militar
de brim sujo com divisas de cabo numa das mangas e um emblema de escoteiro
mal costurado na outra; no peito trazia uma medalha comemorativa do
lançamento do quarto bônus de guerra Liberty Loan e um pequeno broche de
metal com duas estrelas douradas, obviamente um adorno feminino. No
enxovalhado chapéu-coco via-se um cordão de chapéu de oficial, e na calçada,
entre os seus pés, uma caneca de lata exibia uma moeda de dez centavos e outras
três de um centavo.
Bayard desencavou uma moeda do bolso, e o mendigo, notando a sua
aproximação, transformou sua música em um único e repetido acorde, sem
contudo romper o ritmo, até a moeda tilintar na caneca, e ainda sem interromper
o ritmo e a inexpressiva toada da gaita, a mão esquerda dele desceu
hesitantemente até a caneca e identificou a moeda com um único gesto; então
outra vez o violão e a guitarra retomaram seu padrão monótono. Quando Bayard
se virava, alguém curtido e têmporas grisalhas. Vestia calças de veludo e botas, e
tinha o corpo flexível de um cavaleiro, e suas mãos bronzeadas e calmas eram
daquelas apreciadas pelos cavalos. O nome dele era MacCallum, de uma família
de seis irmãos que vivia na serra, a trinta quilômetros dali, e com quem Bayard e
John costumavam caçar raposas e guaxinins nas férias.
“Tenho ouvido falar muito desse carro que você arrumou”, disse MacCallum.
“É aquele, não é?” Foi até o meio-fio e rodeou graciosamente o carro,
examinando-o com vagar, as mãos na cintura. “Largo demais no bojo”,
comentou, “e parece muito pesado na cernelha. Êta coisa desajeitada. Imagino
que você tenha de usar brida nisso, não tem?”
“Eu é que não”, respondeu Bayard. “Entra aí que você vai ver do que ele é
capaz.”
“De jeito nenhum, muito obrigado”, respondeu o outro. E então voltou para a
calçada, postando-se entre os negros que se haviam juntado para contemplar o
carro. O relógio no prédio do tribunal bateu as doze horas e apareceram nas ruas
os grupinhos de estudantes que iam para casa no recreio do meio-dia — meninas
com caixas coloridas e cordas para pular, conversando sibilantemente sobre
intensas questões femininas, e meninos em várias etapas de desnudamento,
gritando e brigando e esbarrando nas meninas, que se retraíam todas juntas e
lançavam aos garotos olhares de soslaio, frios e fulminantes.
“Tava indo comer algo”, explicou MacCallum. Atravessou a calçada e abriu
a porta de tela. “Já almoçou?”, perguntou, virando-se para trás.
“Entra aqui um instante, mesmo assim”, e deu uns tapinhas no bolso com um
gesto sugestivo.
O estabelecimento era ao mesmo tempo mercearia, confeitaria e restaurante.
Alguns fregueses estavam em pé na parte da frente, atravancada mas limpa, com
sanduíches e garrafas de refrigerante, e, de trás do balcão, o dono inclinou a
cabeça para os recém-chegados dirigiu-se a ele — um homem largo e atarracado,
com rosto afilado e com uma afabilidade agitada e ligeiramente distraída. A
metade dos fundos estava ocupada por mesas, às quais vários homens e uma ou
outra mulher, quase todos gente da roça, comiam com um decoro canhestro e
solene. Ao lado ficava a cozinha, tomada pelo cheiro e o frágil silvo das frituras,
onde dois negros se moviam como espectros em meio a uma letargia azulada e
enfumaçada. Atravessaram esse salão, MacCallum abriu uma porta colocada em
um ângulo projetado da parede, e por ali entraram em um aposento menor, quase
uma despensa de bom tamanho. Havia uma janela pequena no alto da parede,
uma mesa vazia e três ou quatro cadeiras, e logo em seguida o mais jovem dos
dois negros lá apareceu.
“Sim, sinhô, nhô MacCallum e nhô Sartoris.” Colocou sobre a mesa dois
copos recém-lavados, nos quais ainda escorriam gotículas de água, e ficou à
espera, secando as mãos no avental. Ele tinha um rosto largo e despreocupado,
uma espécie confiável de rosto.
“Limão, açúcar e gelo”, pediu MacCallum. “Você não vai querer
refrigerante, vai?” O negro fez uma pausa com a mão na porta.
“Não”, respondeu Bayard. “Também vou tomar um grogue.”
“Sim, sinhô”, assentiu o negro. “Todos vão de grogue.” Então fez outra
mesura com expressão séria, virou-se e saiu enquanto o proprietário, de avental
limpo, chegou com seu costumeiro trote distraído, esfregando as mãos na calça.
“Dia, dia”, cumprimentou. “Como está, Rafe? Bayard, outro dia vi a
senhorita Jenny e o velho coronel indo ao consultório do Peabody. Não tem nada
errado, tem?” Sua cabeça parecia um ovo invertido; o cabelo encrespava
meticulosamente a partir do centro em duas esmeradas asas de tom ruivo-
castanho, como uma peruca, e os olhos eram de um castanho deliquescente e
passional.
“Entra e encosta a porta”, ordenou MacCallum, atraindo o outro para a sala.
Então tirou de dentro de seu paletó uma garrafa de dimensões assombrosas e a
colocou sobre a mesa. Ela continha um delicado líquido ambarino; o dono
esfregou as mãos na calça e lançou-lhe um olhar afável e caloroso de admiração.
“Santo Deus”, disse ele, “onde você escondeu esse garrafão? Na perna da
calça?” MacCallum tirou a rolha da garrafa e estendeu-a ao proprietário, que se
inclinou para a frente e a cheirou com os olhos fechados. Então suspirou.
“É do Henry”, afirmou MacCallum. “O melhor lote que fez em seis meses.
Imagino que você aceitaria um gole se a gente insistisse?”
O outro riu alto, melifluamente.
“Isso é que é um sujeito engraçado, não é?”, perguntou ele a Bayard. “É um
piadista, não é?” Lançou um olhar para a mesa. “Há apenas dois co...” Alguém
bateu à porta, o proprietário encostou nela a cabeça cônica e fez com a mão um
sinal para os dois. MacCallum escondeu o garrafão sem pressa enquanto o outro
abria a porta. Era o negro, com mais um copo, e as rodelas de limão, o açúcar e o
gelo em uma vasilha rachada. O proprietário fez com que entrasse.
“Se alguém precisar de mim lá na frente, diga que dei uma saída e volto num
instante, Houston.”
“Sim, sinhô”, respondeu o negro, colocando a vasilha sobre a mesa.
MacCallum apresentou de novo a garrafa.
“Por que você continua a dizer a seus fregueses uma mentira velha dessas?”,
perguntou. “Todo mundo sabe o que você tá fazendo.”
O proprietário deu outra gargalhada, olhando cobiçoso para a garrafa.
“Sim, senhor”, repetiu, “é um humorista e tanto. Bem, vocês rapazes têm
tempo de sobra, mas preciso voltar pra lá e tocar o negócio.”
“Mãos à obra, então”, disse-lhe MacCallum, e o proprietário então preparou
um grogue para si mesmo. Ergueu o copo, mexendo e cheirando alternadamente
a bebida, enquanto os outros preparavam os seus grogues. Então tirou a colher e
a colocou sobre a mesa.
“Odeio fazer apressado e estragar uma coisa boa dessas”, comentou, “mas os
negócios não esperam pelo prazer, como vocês bem sabem.”
“Bem-dito, o trabalho interfere nas atividades de um bebedor”, concordou
MacCallum.
“Sim, senhor, disso não há dúvida”, retrucou o outro, erguendo o copo. “À
saúde de seu pai”, entoou e bebeu. “Não tenho visto o velho pela cidade nos
últimos tempos.”
“Pois é”, respondeu MacCallum, “ainda não se conformou com o fato de
Buddy ter se alistado no exército ianque. E diz que só vai pôr os pés de novo na
cidade quando o Partido Democrático se livrar de Woodrow Wilson.”
“Vai ser a melhor coisa de todas as que já fizeram, se o tirarem do páreo e
elegerem alguém como Debs ou o senador Vardaman pra presidente”, concordou
judiciosamente o proprietário. “Bem, isto estava muito bom. O Henry é mesmo
uma maravilha, não é?” Pousou o copo na mesa e virou-se para sair. “Bem,
rapazes, fiquem à vontade. Se precisarem de algo, é só chamar o Houston.”
Então partiu em seu trote distraído.
“Senta aí”, disse MacCallum. Puxou uma cadeira, e Bayard pegou a outra, do
outro lado da mesa. “Deacon certamente deve saber quando o uísque é bom.
Com tudo o que já bebeu, o balcão daqui poderia sair boiando pra rua.” Encheu
o próprio copo e empurrou a garrafa para Bayard, e ambos voltaram a beber em
silêncio.
“Você tá com uma cara horrível, rapaz”, disse MacCallum de repente.
Bayard levantou a cabeça e viu que o outro o examinava com um olhar alerta e
firme. “Tá acabado”, acrescentou. Bayard ensaiou um gesto abrupto de negação
e ergueu o copo, mas ainda podia sentir que o outro continuava a observá-lo.
“Bem, seja o que for, você ainda não esqueceu como tomar um bom uísque... Por
que não vem um dia e a gente sai pra caçar juntos? Tem uma velha raposa-
vermelha que venho guardando para você. De uns dois anos pra cá, tenho saído
atrás dela com os cães mais novos. Ainda não coloquei o General no encalço
dela, pois o velho malandro vai farejá-la e estávamos reservando ela pra vocês
dois. John teria adorado essa raposa. Lembra daquela noite em que o Johnny
tomou um atalho até a ponte do Samson, na frente dos cães, e quando chegamos
lá, ele e a raposa tavam boiando rio abaixo num tronco solto, a raposa numa
ponta e Johnny na outra, cantando aquela canção idiota o mais alto que podia?
John teria gostado dessa raposa. Ele sempre era mais esperto que os cães novos.
Mas o velho General vai pegar ela.”
Bayard continuou sentado, girando o copo na mão. Tirou um maço de
cigarros do paletó e o sacudiu, fazendo com que alguns caíssem na mesa perto
de sua mão, e jogou o maço para o outro. MacCallum bebeu o grogue de uma
vez e encheu de novo o copo. Bayard acendeu um cigarro, esvaziou o seu copo e
estendeu a mão para a garrafa.
“Você tá um trapo, rapaz”, repetiu MacCallum.
“Vai ver que é a sede”, respondeu Bayard, no mesmo tom plano do outro.
Preparou mais um grogue, o cigarro queimando na borda da mesa. Ergueu o
copo, mas, em vez de beber, manteve-o por um instante sob o nariz enquanto os
músculos na base da narina ficavam tensos e perdiam a cor, então afastou de si o
copo e, com mão firme, o esvaziou no chão. O outro o fitou calado enquanto
enchia metade do copo com a bebida pura, juntava um pouco de água e virava
tudo pela garganta. “Tenho me comportado por tempo demais”, disse em voz
alta, e passou a falar da guerra. Não do combate, mas antes de uma existência
povoada de jovens que mais pareciam anjos caídos, e da violência meteórica
desses anjos caídos, para além do céu e do inferno e participando de ambos:
imortalidade fatal e fatalidade imortal.
MacCallum ouviu calado, tomando o uísque de maneira constante e lenta,
sem que este lhe provocasse qualquer efeito visível, como se bebesse leite, e
Bayard continuou a falar e logo depois notou sem surpresa que estava comendo
algo. O nível da garrafa agora já estava abaixo da metade. O negro Houston
havia trazido a comida e também provara do uísque, tomando-o puro e sem
pestanejar. “Se tivesse uma vaca que desse isso, num ia sobrar nada pro
bezerro”, comentou, “nem pra fazer manteiga. ’Brigado, nhô MacCallum.”
Então ele saiu e a voz de Bayard continuou, preenchendo o cubículo da
saleta, sobrepondo-se ao cheiro de comida barata cozida muito depressa e do
uísque pungente derramado com os espectros de algo estridente como uma
histeria, como o clarão de meteoros caídos na escura retina do mundo. Após uma
leve batida na porta, assomou a cabeça ovalada do proprietário e os seus olhos
tépidos e acanhados.
“Tudo em ordem com os cavalheiros?”, perguntou, esfregando as mãos na
calça.
“Venha e tome mais”, disse MacCallum, apontando a garrafa com um
movimento da cabeça, e o outro preparou para si um grogue no copo que usara
antes e o bebeu, contemplando o narrador com um assombro rotundo e
enternecido, enquanto Bayard terminava de contar uma história ocorrida certa
noite com ele e um major australiano e duas damas no saguão do Leicester (o
saguão era território proibido, o australiano perdeu dois dentes e a namorada, e o
próprio Bayard ficou com um olho roxo).
“Santo Deus”, disse então, “não há dúvida que esses aviadores eram da pá
virada, não é? Desculpa, mas acho que estão precisando de mim lá na frente de
novo. Não tem moleza se a gente quiser sobreviver nesses dias.” E saiu
apressado.
“Tenho me comportado por tempo demais”, repetiu Bayard roucamente,
observando MacCallum encher os dois copos. “Essa é a única coisa na qual
Johnny era de fato bom. Não me deixava cair na rotina. Rotina desgraçada, com
um par de velhas me enchendo e nada para fazer além de assustar a negrada.”
Entornou o uísque e baixou o copo, sem largá-lo. “Maldito boche de merda”,
exclamou. “De qualquer modo, ele jamais deveria ter voado. Fiz de tudo para
impedir que subisse naquela porcaria de teco-teco”, e amaldiçoou furiosamente o
irmão morto. Aí ergueu de novo o copo, mas parou a meio caminho dos lábios.
“Que diabo houve com a minha bebida?”
MacCallum esvaziou a garrafa no copo de Bayard, e este entornou tudo de
novo, bateu o copo grosso na mesa, levantou-se e foi na direção da parede. A
cadeira caiu para trás com estrépito, e ele se recompôs, fitando o outro. “Fiz de
tudo para impedir que ele subisse naquele Camel. Mas ele me deu um soco. Bem
no meu nariz.”
Em seguida MacCallum também se ergueu. “Vamos embora”, disse
calmamente e se ofereceu para segurar o braço de Bayard, mas este se esquivou
e passaram pela cozinha e atravessaram o comprido túnel do armazém. Bayard
caminhava com certa firmeza, e o proprietário acenou com a cabeça desde o
outro lado do balcão.
“Voltem sempre, cavalheiros”, disse, “voltem sempre.”
“Tudo bem, Deacon”, respondeu MacCallum
Bayard seguiu em frente. Quando passavam pela máquina de refrigerante,
um jovem advogado, em pé ao lado de um estranho, dirigiu-lhe a palavra.
“Capitão Sartoris, quero lhe apresentar o senhor Gratton aqui. Gratton serviu
na frente britânica na primavera passada.” O forasteiro se virou e estendeu a
mão, mas Bayard apenas o contemplou com um olhar vago e seguiu em frente
tão decidido que o outro teve que recuar para não ser atropelado.
“Ora, maldito seja”, exclamou às costas de Bayard. O advogado agarrou-lhe
o braço.
“Está bêbado”, sussurrou depressa, “ele está bêbado.”
“Pouco me importa”, exclamou alto o outro. “Só porque foi um maldito
pracinha acha que...”
“Shhhhh, shhhhhh”, sibilou o advogado. O proprietário se aproximou do
canto do balcão de doces e espiou de lá com olhos arregalados de alarme.
“Cavalheiros, cavalheiros!”, exclamou
O forasteiro fez outro gesto brusco e Bayard estacou.
“Espera um pouco que vou arrebentar a cara dele”, disse a MacCallum e se
virou. O forasteiro empurrou o advogado para o lado e deu um passo adiante.
“Você não tem ideia...”, começou ele
MacCallum segurou o braço de Bayard com firmeza e calma.
“Deixa estar, rapaz.”
“Vou quebrar a cara dele”, declarou Bayard, fitando sem emoção o estranho
furioso. O advogado voltou a segurar o braço do companheiro.
“Sai pra lá”, disse o forasteiro, desvencilhando-se do advogado.
“Vamos ver do que é capaz. Venha cá, seu patife...”
“Cavalheiros, cavalheiros!”, implorou o proprietário.
“Vamos embora, rapaz”, disse MacCallum. “Ainda tenho que ver um
cavalo.”
“Um cavalo?”, repetiu Bayard e virou-se obedientemente. Em seguida parou
e olhou para trás. “Não posso arrebentar sua cara agora”, disse para o forasteiro.
“Desculpe. Tenho que ver um cavalo. Mais tarde te procuro no hotel.” Mas o
outro já lhe dera as costas e mais atrás o advogado fazia caretas e acenava com a
mão para MacCallum.
“Leve-o embora, MacCallum, pelo amor de Deus.”
“Mais tarde quebro a cara dele”, repetiu Bayard. “Mas não posso quebrar a
tua cara, Eustace”, disse ao advogado. “No primário nos ensinaram a nunca
seduzir uma idiota ou bater em aleijado.”
“Vamos embora”, repetiu MacCallum, conduzindo-o para fora.
Junto à porta, Bayard ainda parou para acender um cigarro; em seguida
saíram. Eram três da tarde e mais uma vez andaram entre ondas de estudantes
recém-liberados. Bayard andava com certa firmeza e de modo um tanto
beligerante; logo MacCallum entrou por uma travessa e seguiram adiante,
passando por armazéns de negros e, num ponto entre um movimentado moinho
de grãos e um silencioso descaroçador de algodão, viraram numa estreita viela
na qual estavam amarrados vários cavalos e mulas. Do fim da viela ouvia-se o
retinir de uma bigorna. Passaram pelo seu brilho rubro e por um cavalo
pacientemente apoiado em três pernas na entrada do ferreiro e pelos homens de
macacão acocorados junto ao muro ensombrecido, e acabaram em um portão de
grades altas, que dava para um comprido túnel de tijolos pardacentos de onde
exalava um odor de amônia. Alguns homens estavam encarapitados no topo do
portão; outros apoiavam nele os braços cruzados. Do próprio padoque vinham
vozes e então, por entre as travessas do portão, refulgiu uma forma altiva e
imóvel de chama brunida.
O garanhão estava parado diante da escancarada caverna da entrada da
estrebaria como uma imóvel labareda de bronze, e por seu pelo reluzente
corriam de tempos em tempos pequenos tremores de chamas mais claras,
pequenas línguas de nervosismo e orgulho. Mas o olho dele era calmo e
arrogante, e de quando em quando, com um ar régio, varria o grupo apinhado no
portão com requintado desdém, sem de modo algum distingui-los
individualmente, e de novo pequenas línguas de chama mais clara ondeavam
reluzentes por seu pelame.
Em volta de sua cabeça havia um bridão de corda; ele estava amarrado a uma
verga, e no fundo um homem branco andava de um lado para o outro a uma
distância respeitosa com um ar de proprietário, acompanhado por um tratador
negro com um saco de aniagem preso à cintura com um barbante. MacCallum e
Bayard pararam no portão, e o homem branco rodeou a altiva imobilidade do
garanhão e veio ao encontro deles. O tratador negro também avançou, com um
pano macio e sujo, entoando uma cantilena tranquilizadora. O garanhão permitiu
que ele se aproximasse e tolerou que apagasse com o trapo as labaredas nervosas
que corriam em ondulações sob a sua pele.
“E aí, não é uma beleza?”, perguntou a MacCallum o homem, apoiando o
cotovelo no portão. Um relógio barato de níquel estava preso ao seu suspensório
por uma correia de couro trançado, enegrecida de tão gasta e macia de tanto uso,
e sua barba cuidada era mais densa entre os cantos da boca e o queixo: ele dava a
impressão de estar sempre mascando fumo de boca aberta. Era um mercador de
cavalos profissional e estava constantemente metido em litígios com a
companhia de trens por causa da morte violenta de seus animais em acidentes
ferroviários. “Vê só esse crioulo”, acrescentou. “O garanhão permite que Tobe o
maneje como um bebê. Eu mesmo não conseguiria chegar a três metros dele.
Raios me partam se souber como o Tobe consegue. Deve ser algum parentesco
entre os negros e os animais, é o que sempre digo.”
“Vai ver ele tem medo que um dia você cruze com ele os trilhos bem na hora
em que passa o trinta e nove”, comentou secamente MacCallum.
“Deve ser, acho que sou o cara mais azarado de todo o condado”, assentiu o
outro. “Mas eles vão ter de fazer um acordo: dessa vez peguei eles em
flagrante.”
“Claro”, comentou MacCallum, “e a companhia deveria fornecer aos seus
animais tabelas com o horário dos trens.” Os outros circunstantes explodiram em
gargalhadas.
“Ah, a companhia está cheia de grana”, retrucou o mercador, acrescentando:
“Você fala como se eu tivesse colocado as mulas na frente do trem. Deixa eu te
contar como é que aconteceu...”
“Imagino que você jamais vai levar esse aí para a frente de nenhum trem.”
MacCallum sacudiu a cabeça para o garanhão. O negro escovava o pelame
reluzente, cantando para ele uma litania monótona.
O mercador riu.
“Acho que não”, admitiu, “e o Tobe jamais faria isso. Olha só pra ele agora.
Pra mim, é mais difícil chegar perto daquele animal do que voar.”
“Vou montar esse cavalo”, disse Bayard de repente.
“Que cavalo?”, indagou o mercador, e os outros espectadores observaram
Bayard escalar o portão e saltar para o picadeiro.
“Deixa em paz esse cavalo, rapaz”, disse o mercador.
Bayard, porém, não lhe deu atenção. Seguiu adiante, o garanhão lançou-lhe
seu olhar régio e virou a cabeça.
“Deixa em paz o cavalo”, gritou o mercador, “ou vou chamar a polícia.”
“Deixa ele”, disse MacCallum.
“E deixar que estrague um garanhão de mil e quinhentos dólares? Esse
cavalo vai matar ele. Ei, Sartoris?”
Do bolso da calça MacCallum tirou um maço de notas presas por um
elástico. “Deixa ele”, repetiu. “É isso o que ele quer.”
O mercador deu uma espiada no bolo de dinheiro, fazendo cálculos rápidos.
“Os cavalheiros aqui são testemunha...”, começou, erguendo a voz; em seguida
calou-se, e todos olhavam tensos enquanto Bayard aproximava-se do garanhão.
O animal voltou a dirigir seu olho reluzente e altivo para ele, ergueu a cabeça
sem se inquietar e resfolegou. O negro deu um olhar por cima do ombro e se
agachou junto ao animal, e seu canto monótono adquiriu um ritmo mais
acelerado. “Volte pra lá, branco”, disse ele. “Cai fora, depressa.”
O animal resfolegou de novo e levantou a cabeça, esticando a corda como se
fosse um fio impalpável, enquanto o negro agarrava-lhe a ponta no ar. “Volta pra
lá, branco”, gritou agora. “Sai daí depressa.”
Mas o garanhão escapuliu de sua mão. Arreganhou os dentes em um arco
maléfico, o negro pulou e se estatelou, e o animal saltou como uma explosão de
bronze. Bayard esquivou-se dos cascos afiados como sabres e, enquanto o cavalo
rodopiava em uma miríade de bruxuleios de fogo, os espectadores viram que ele
conseguira passar a ponta da corda em torno das mandíbulas do animal; então
este empinou de novo, arrancando o homem do chão e sacudindo-lhe o corpo
como um trapo num arco relampejante. Em seguida ficou imóvel, tremendo,
enquanto Bayard fechava suas narinas com a corda enrolada e de repente estava
sobre o dorso do animal, que ficou com a cabeça abaixada e revirando os olhos,
ondulando o pelame em línguas tremeluzentes antes de voltar a explodir.
E quando isso aconteceu foi como um par de asas de bronze que se abriam;
os espectadores caíram aos trambolhões e correram em busca de segurança
enquanto o portão estilhaçava-se sob a explosão vulcânica ascendente. Bayard
agarrou-se encolhido aos ombros do animal e puxou para o lado aquela cabeça
enlouquecida, e ambos dispararam pela viela, desencadeando um pandemônio
entre as mulas e os cavalos ali amarrados pacatamente junto à oficina do ferreiro
e entre as carroças. No ponto em que a viela desembocava na rua um grupo de
negros se dispersou diante deles e, sem alterar o ritmo de sua arremetida, o
garanhão saltou sobre uma pequena criança negra que segurava um pirulito
listrado e estava bem no seu caminho.
Naquele exato instante entrava na viela uma carroça puxada por mulas: estas
recuaram desesperadas perante o ar atônito e embasbacado de seu condutor
branco, e Bayard conseguiu desviar o raio que cavalgava e o conduzir para longe
da praça. Atrás dele, na viela, os espectadores corriam aos berros em meio à
poeira, entre eles o mercador, e Rafe MacCallum, ainda com o maço de dinheiro
na mão.
O garanhão se movia sob Bayard como uma música tremenda e
enlouquecida, descontrolada, esplendidamente incontrolável. A corda servia
apenas para controlar sua direção, não a sua velocidade, e, entre gritos vindos
das calçadas de ambos os lados, ele conseguiu encaminhar o cavalo para outra
rua. Esta era mais tranquila; logo mais estariam no campo, onde o garanhão
poderia esgotar sua fúria sem colocar em risco os carros a motor e os pedestres.
Atrás dele, as vozes se esvaíam em meio ao seu próprio trovejar: “Um cavalo
enlouquecido! Um cavalo enlouquecido!” Mas a rua estava deserta a não ser por
um pequeno automóvel que ia na mesma direção, e mais além, sob a galeria
verdejante, pequenas e brilhantes manchas de cor saíam correndo da rua.
Crianças. “Espero que fiquem ali”, passou-lhe pela cabeça. Seus olhos estavam
lacrimejando; sob ele, a impetuosa ascensão e queda; em suas narinas, uma
pungência de raiva e vigor e orgulho ferido exalava como fumaça do corpo do
animal, e ele ultrapassou o carro, notando em um átimo um rosto de mulher e
uma boca entreaberta e dois olhos arregalados em calmo assombro. Mas o rosto
se dispersou sem deixar registro em seu espírito e ele avistou as crianças
amontoadas num dos lados da rua e, no lado oposto, um negro brincando com
uma mangueira na calçada, ao lado de outro negro com um ancinho.
Alguém gritou de uma varanda, e o grupo de crianças se dispersou aos
berros. Uma pequena figura de camisa branca e diminutas calças azul-claras
correu para a rua e Bayard inclinou-se para baixo, enrolou a corda na mão e
forçou o animal a seguir para a calçada oposta, onde estavam os dois negros de
boca aberta. A figurinha passou, relampejando em segurança atrás dele. Em
seguida, uma estreita faixa de verde passou rapidamente, um tronco de árvore
parecido com o raio invertido de uma roda, e o garanhão arrancou fagulhas ao
bater com os cascos no concreto úmido. Então o cavalo escorregou, chocou-se,
lutou para se equilibrar, arremessou-se para a frente e estatelou-se; para Bayard,
foi um choque vermelho e, depois, as trevas.
O cavalo ainda conseguiu se levantar, girou, se preparou e golpeou
viciosamente com os cascos o homem prostrado, mas o negro com o ancinho o
espantou, e ele saiu em um trote rígido e, balançando a cabeça pela rua, passou
pelo carro parado. No fim da rua parou tremendo e resfolegando e permitiu que
o tratador negro o tocasse.
Rafe MacCallum continuava a segurar o maço de notas.
6.
Eles o recolheram e o levaram para a cidade em um carro que passava por
ali; despertaram o doutor Peabody de seu cochilo, o médico fez um curativo
improvisado na cabeça de Bayard, ofereceu-lhe um trago de uma garrafa que
costumava ficar na lixeira abarrotada e ameaçou ligar para a senhorita Jenny
caso ele não fosse imediatamente para casa.
Rafe MacCallum prometeu cuidar para que ele o fizesse, e o dono do
automóvel requisitado ofereceu-se para levá-lo. Era um modelo Ford que, no
lugar do assento traseiro, tinha uma cabine miniaturizada de ferro, pouco maior
que uma casinha de cachorro, em cujas janelas havia o desenho pintado de uma
dona de casa sorrindo com afetação atrás de uma máquina de costura; no interior
da cabine fora colocada uma máquina de costura verdadeira, que assim servia de
mostruário nas áreas rurais percorridas pelo representante. Este se chamava V. K.
Suratt e agora estava sentado, com seu rosto astuto e plausível, atrás do volante.
Com a cabeça ainda zunindo, Bayard estava no assento ao lado, e, junto ao para-
lama, agarrou-se um rapaz com braços bronzeados e um chapéu de palha
inclinado e estalando de novo, que permitia a seu corpo ágil absorver as
sacudidas com negligente facilidade enquanto chacoalhavam pacatamente para
fora da cidade e tomavam a estrada do vale.
A bebida oferecida pelo doutor Peabody, em vez de acalmar seus nervos
irritados, rolava lerda e estuante em seu estômago e apenas contribuiu para
deixá-lo um pouco nauseado; sob suas pálpebras cerradas, formas cabriolantes e
avermelhadas reviravam-se em círculos pulsantes e tediosos. Ele ficou a
contemplá-las desassombrada e obtusamente enquanto emergiam da escuridão e
rodopiavam lentamente, sumindo e reaparecendo, cada vez mais esmaecidas à
medida que desanuviava o seu espírito. Todavia, mesclado a elas em algum
ponto, e ao mesmo tempo separado e mais além, com tranquilo alheamento,
inalterado em meio às circunvoluções desprovidas de sentido, pairava um rosto.
Ele parecia ter algo a ver com o momento mesmo que culminou no choque e na
escuridão; ao mesmo tempo, parecia, a despeito de todo o seu alheamento,
participar do rodopiante caos subsequente; apenas uma parte dele, mas
conferindo ao vórtice rubro uma espécie de refrigério constante, como o de leve
aragem à sombra. E assim permaneceu, alheado, sem se delinear por completo,
enquanto as formas espiraladas desapareciam em um opaco mal-estar de
incômodo físico com as sacudidas do carro, deixando-lhe como que um eco
daquele frescor sereno e também algo além disso — um sentimento de um
desgosto, reticente mas irresistível, despertado por ele mesmo ou por algo que
fizera.
Caía a noite. Em ambos os lados, o algodão e o milho arremessavam hastes
esverdeadas sobre o solo fértil e escuro, e nos trechos de mata onde os raios
inclinados de sol recaíam entre sombras violáceas, os pombos arrulhavam
melancolicamente. Depois de um tempo, Suratt saiu da estrada e entrou por uma
apagada e esburacada trilha de carroças entre uma plantação e um bosque, dando
de cara com o sol; Bayard tirou o chapéu e o segurou diante do rosto.
“O sol é ruim pra sua cabeça?”, perguntou Suratt. “Falta pouco agora.”
O caminho serpenteava e logo depois passava por um trecho com árvores,
onde o sol era intermitente, subindo pouco a pouco até um cimo arenoso. Além
deste, o terreno descaía em campos parcelados e malcuidados, e adiante, junto a
um pomar de árvores frutíferas lamentáveis e um bosque de mirrados choupos-
brancos descorados como absinto que tremeluziam sem parar mesmo sem vento,
via-se uma casinha maltratada pelas intempéries. Mais além, e bem maior,
avultava um estábulo cinzento e decrépito. Então o caminho se bifurcou.
Um ramal vago traçava uma larga curva arenosa que acabava na casa; o
outro continuava entre o mato crescido até o estábulo. O rapaz junto ao para-
lama inclinou a cabeça para o carro. “Vá até o estábulo”, orientou.
Suratt obedeceu. Além do mato às margens do caminho, uma cerca desfazia-
se em vacilante ruína, e em meio à vegetação os cabos de um arado projetavam-
se em ângulo agudo enquanto uma relha enferrujava pacificamente junto ao solo
e a outros implementos semiocultos e também enferrujados — esqueletos de
labuta recuperados pela terra, mais bondosa do que eles, que a tinham
violentado.
Em um ângulo da cerca, Suratt parou, o rapaz saltou e abriu a porteira de
madeira empenada, e Suratt avançou com o carro até a entrada do estábulo, onde
havia uma carroça com rodas bambas e plataforma improvisada, e o esqueleto
enferrujado de um carro Ford. Embaixo, junto ao radiador careca e abobadado,
os dois faróis lhe conferiam uma expressão de cenho franzido e paciente
perplexidade; uma vaca magra ruminava, fitando-os com ar melancólico.
As portas do estábulo pendiam frouxamente das dobradiças quebradas,
presas às ombreiras por voltas de arame enferrujado; além, a gruta da entrada
bocejava em rançosa desolação — uma paródia da plenitude acumulada da terra
e de seus opulentos frutos. Bayard sentou-se no para-lama, apoiou a cabeça
enfaixada na lateral do carro, e viu Suratt e o rapaz adentrarem o barracão e
galgarem lentamente degraus invisíveis. A vaca mastigava em moroso desalento
e, na superfície amarelada de uma lagoa circundada por margens de barro
pisoteado e crestado pelo sol, gansos deslizavam como pequenas nuvens turvas.
Os raios do sol incidiam oblíquos sobre as caudas e os pescoços macios, e sobre
o flanco afilado e pulsante da vaca, delineando suas costelas aparentes em
dourado encardido. Em seguida as pernas de Suratt reapareceram tateantes,
seguidas por seu corpo cauteloso, e atrás dele o rapaz, segurando-se com apenas
uma das mãos, desceu rapidamente aos saltos.
Vinha segurando um garrafão de barro junto à perna. Atrás dele, Suratt, com
imaculada camisa azul sem gravata, fez um sinal brusco com a cabeça para
Bayard, e ambos dobraram a quina do estábulo, enfiando-se pelo mato de
estramônio que lhes chegava à cintura.
Quando Bayard os alcançou, o rapaz com o garrafão esgueirava-se com
agilidade entre dois fios frouxos de arame farpado. Suratt passou agachado com
mais cuidado, depois levantou ao máximo o fio superior e apoiou o pé no
inferior até que Bayard tivesse passado.
Por detrás do estábulo, o terreno descia até uma área ensombrecida, na
direção de um bosque selvático de salgueiros e amieiros, diante do qual
assomava uma enorme faia e uma touceira de brotos de árvores como espectros
mosqueados, de onde soprava na direção deles uma umidade fresca como uma
aragem. A nascente brotava das raízes da faia, transbordava para uma estrutura
de madeira toda enterrada na areia branca, que tremelicava leve e
incessantemente sob a límpida inquietude da água, e perdia-se no bosque de
salgueiros e amieiros.
Em volta da nascente o terreno havia sido muito pisoteado e estava
compactado como um piso de terra. Ao lado, um pote de ferro enegrecido jazia
sobre quatro tijolos, entre os quais se via um montinho de cinzas descoradas,
restos de tições extintos e paus chamuscados.
Uma tábua de lavar com superfície metálica ondulada fora apoiada no pote, e
uma enferrujada caneca de lata pendia de um prego num galho de árvore acima.
O rapaz pousou o garrafão, e ele e Suratt se agacharam ao lado.
“Não sei se não vamos nos meter em encrenca, dando uísque ao senhor
Bayard, Hub”, sussurrou Suratt. “Mas como o próprio Peabody deu a ele um
trago, acho que não tem problema. Não é, senhor Bayard?” Ainda agachado,
ergueu os olhos para Bayard, voltando-lhe o rosto afável e decidido. Hub tirou a
rolha de sabugo do garrafão e o passou a Suratt, que o entregou a Bayard.
“Conheço o senhor Bayard desde que usava calça curta”, confidenciou Suratt ao
rapaz. “Mas esta é a primeira vez que ele e eu tomamos um trago juntos. Não é
assim, senhor Bayard?... Acho que o senhor vai querer um copo, não é?” Bayard,
porém, já estava bebendo, direto do garrafão, acomodado em seu braço
horizontal, segurando-o pela boca com a mão do mesmo lado, como se deve
fazer. “Ele sabe como beber de um garrafão, não é?”, acrescentou Suratt. “Sabia
que ele tava bem”, afirmou em um tom de discreta justificativa. Bayard baixou o
garrafão e o devolveu a Suratt, que o passou formalmente a Hub.
“Vá em frente”, disse Hub. “Manda ver.”
E Suratt bebeu, com cadenciados movimentos de êmbolo no pomo de adão.
Sobre o regato, mosquitos rodopiavam e giravam em um raio de sol quase
horizontal, como erráticas centelhas douradas. Suratt baixou o garrafão,
devolveu-o a Hub e limpou a boca com o dorso da mão.
“Como se sente agora, senhor Bayard?”, perguntou. E acrescentou sério: “O
senhor me desculpe. Acho que devia chamá-lo de capitão, não é?”
“Que diferença faz?”, perguntou Bayard. Ele também se acocorou sobre os
calcanhares, encostado ao tronco da faia. O aclive do terreno em que estavam
ocultava o estábulo e a casa, e os três ficaram ali agachados em uma pequena
concavidade de calma, distante do mundo e do tempo, trespassada pelo fresco e
límpido alento da nascente e pela luz do sol, que se infiltrava por entre amieiros
e salgueiros como um vinho ligeiramente difuso. Na superfície da nascente
refletia-se o céu, rendilhado com folhas imóveis de faia. Esguio, Hub estava
agachado, com os braços bronzeados em torno dos joelhos, fumando um cigarro
sob a aba inclinada do chapéu. Suratt fora até o outro lado da nascente. Vestia
uma camisa azul desbotada e, contrastando com esta, suas mãos e seu rosto eram
quase pardos, de cor de mogno intensa.
O garrafão jazia rotundo e benfazejo entre ambos.
“Sim, senhor”, repetiu Suratt, “sempre achei que o melhor remédio prum
ferimento é uma boa dose de uísque. Os médico, como esses jovens e metidos
por aí, num pensam assim, mas o velho Peabody cortou fora a perna do meu vô
com ele deitado na mesa da cozinha, com um garrafão de uísque na mão e uma
colcha e uma cadeira pra apoiar as pernas, e quatro homens segurando ele, e ele
praguejando e cantando músicas tão escandalosas que as mulheres e as crianças
desceram até o pasto atrás do estábulo e ficaram lá esperando. Toma mais”,
disse, passando o garrafão sobre a nascente, e Bayard voltou a beber. “Acho que
já deve estar se sentindo melhor, não é?”
“Raios me partam, mas não tenho a menor ideia”, respondeu Bayard. “Isto
aqui é dinamite, rapazes.”
Suratt suspendeu o garrafão e deu uma gargalhada, depois o levou aos lábios
e seu pomo de adão voltou a bombear, destacando-se contra o muro de
sabugueiro e salgueiro. O sabugueiro estava prestes a florir, com punhados de
minúsculos brotos alvacentos.
Com flores iguais, a senhorita Jenny preparava um pouco de vinho todos os
anos. Bom vinho, mas era preciso saber preparar e ter paciência.
Vinho de flor de sabugueiro. Como o ritual de uma brincadeira infantil, feito
por menininhas com vestidinhos claros, entre o jantar e o crepúsculo. Acima da
concavidade onde a luz do sol ainda penetrava em raios horizontais, mosquitos
rodopiavam e giravam como partículas de pó em um aposento silencioso e não
habitado. A voz de Suratt prosseguia afável, em incessante recapitulação, com
polida admiração pela resistência da cabeça de Bayard e pelo fato de aquela ser a
primeira ocasião em que ele e Bayard estavam tomando juntos um trago.
Voltaram a beber e Hub começou a pedir cigarros a Bayard e também adotou
um tom um tanto irreverente e rude ao contar, em seu linguajar roceiro, histórias
de uísque e raparigas e dados; e logo depois ele e Suratt passaram a discutir
amigavelmente sobre o trabalho.
Pareciam capazes de ficar agachados sem cansaço ou desconforto, mas as
longas pernas de Bayard logo começaram a adormecer e ele as esticou, sentindo
o formigamento do sangue liberado, sentado com as costas apoiadas na árvore e
ouvindo desatento a voz de Suratt.
Agora sua cabeça estava tomada por uma espécie de tenso desconforto; às
vezes parecia flutuar longe do corpo e elevar-se junto ao muro verdejante como
um balão translúcido, no interior do qual ou atrás do qual aquele rosto que não se
definia nem se dissipava por inteiro pairava com sombria exasperação — os dois
olhos arregalados com profunda e chocada perplexidade, duas mãos erguidas
relampejando por trás de camisa branca e calças azuis infantis arremessadas para
o alto e depois mergulhando com estrépito e o choque e a escuridão...
A voz lenta e sensata de Suratt prosseguia inalterada, mas sem nenhuma
qualidade irritante. Parecia encaixar-se com facilidade no cenário imóvel,
falando de coisas terrenas. “Foi assim que aprendi a limpar uma plantação de
algodão”, estava dizendo, “meu irmão mais velho me chamou e me colocou na
fila na frente dele. Me mandou começar e, logo que dei um ou dois golpes, ele
apareceu atrás de mim. E cada vez que minha enxada batia uma vez, podia ouvir
a dele batendo duas vezes. E naquela época eu nunca usava sapato”, acrescentou
secamente. “Por isso tive de aprender a ir depressa, com aquela enxada dele
chegando cada vez mais perto do meu calcanhar. Foi então que jurei que, de um
jeito ou de outro, eu jamais ia plantar mais nada no chão, assim que conseguisse
sair dali. Tudo bem pro pessoal que tem terra, mas gente como a minha família
nunca teve terra nenhuma, e toda vez que a gente cavava um rego, a gente tava
mexendo em terra de outra pessoa.” Os mosquitos dançavam e rodopiavam ainda
mais loucamente nos raios de sol, acima dos cantos recônditos do córrego, e a
luz começava a adquirir uma intensa tonalidade acobreada. Suratt se levantou.
“Bem, rapazes, tenho de voltar pra cidade.” Olhou para Bayard com seu rosto
amável e astuto. “Acho que o senhor Bayard já se recuperou do tombo que
levou, não é?”
“Que maldição”, disse Bayard, “para com essa história de senhor Bayard.”
Suratt pegou de novo o garrafão. “Sabia que ele era legal, só precisava
conhecer ele melhor”, disse a Hub. “Conheço ele desde que era um tiquinho,
mas eu e ele nunca tínhamos ficado juntos desse jeito antes. Cresci como um
menino pobre, rapazes, e a família do senhor Bayard vivia naquela casona com
muita grana no banco e muito negro para servir eles. Mas ele é legal”, repetiu.
“Não vai contar nada sobre quem lhe deu uísque.”
“Deixa contar se quiser”, retrucou Hub. “Não dou a mínima.”
Voltaram a beber. O sol havia quase desaparecido, e desde os secretos cantos
pantanosos do regato veio o coaxar feérico de rãs jovens.
A invisível e afilada vaca desceu na direção do estábulo, Hub fechou o
garrafão com o sabugo de milho, apertando-o com um golpe da palma da mão, e
aí todos subiram a colina e passaram pela cerca de arame farpado. A vaca estava
em frente ao estábulo e os contemplou enquanto se aproximavam e depois
baixou a cabeça, melancólica e pesarosa. Os gansos haviam deixado a lagoa e
agora desfilavam gravemente diante do estábulo no rumo da casa, em cuja porta,
enquadrada por duas moitas de extremosas, estava parada uma mulher.
“Hub”, disse ela com voz chapada e rústica.
“Vou pra cidade”, respondeu brusco Hub. “Sue vai ter que tirar o leite.”
A mulher continuou parada na porta. Hub levou o garrafão para o estábulo e
a vaca o seguiu, e quando ele notou, virou-se e deu-lhe um sonoro chute nas
costelas magras, xingando-a sem cólera. Logo depois reapareceu, caminhou até
o portão e o abriu, e Suratt passou com o carro. Então ele o fechou e o prendeu
com arame e saltou para o estribo. Bayard abriu um espaço no assento e insistiu
para que Hub entrasse no carro. A mulher continuava à porta, observando-os em
silêncio. Perto da soleira os gansos irrompiam vez por outra em grasnidos
desafinados, seus pescoços ondulantes e macios como a gesticulação formal em
uma pantomima.
A sombra das árvores frutíferas encompridava-se ao longo dos campos
malcuidados, e o carro empurrou sua própria sombra alongada à frente, como a
sombra de uma ave imensa e corcunda. Subiram a colina arenosa sob os
derradeiros raios de sol e iniciaram a descida fora de sua luz, no lusco-fusco
violáceo. O caminho de cascalho estava silencioso, e o carro derrapou nas trilhas
gastas e indistintas antes de retomar a estrada.
A lua crescente pairava no alto. Naquela altura, porém, ainda não reluzia, e
avançaram em direção à cidade, passando de quando em quando por uma
carroça de volta para casa. Suratt, que conhecia praticamente todas as almas do
condado, cumprimentava os seus ocupantes com um movimento solene da mão
bronzeada, e mais adiante, quando a estrada cruzava uma ponte de madeira entre
outros salgueiros e sabugueiros, e onde o crepúsculo era mais denso e mais
palpável, Suratt parou o carro e saltou por cima da porta.
“Espera um pouco”, disse ele. “É só um instante. Preciso pôr água no
radiador.” Eles o ouviram remexendo na traseira do carro; em seguida
reapareceu com um balde de latão e desceu agilmente pelo barranco ao lado da
estrada. A água rumorejava e murmurava sob a ponte, invisível no crepúsculo,
seu murmúrio entremesclado à voz dos grilos e dos sapos. Acima dos salgueiros
que assinalavam o curso do rio os mosquitos ainda rodopiavam e giravam, mas
do nada apareceram os bacuraus em longos mergulhos, e no meio da descida
sumiram, reaparecendo e mergulhando de novo sobre o fundo do céu calmo,
silenciosos como gotas de chuva no vidro de uma janela; velozes, calados e
decididos, como se suas asas tivessem penas de crepúsculo e de silêncio.
Empunhando o balde, Suratt escalou de volta o barranco e retirou a tampa do
radiador e despejou a água sobre a abertura. No alto, a lua pairava sem ênfase;
no entanto, a débil sombra da cabeça e dos ombros de Suratt recaía sobre o capô
do carro; e, sobre as opacas tábuas da ponte, as copas inclinadas dos salgueiros
estavam ligeira e delicadamente delineadas em sombra. Um resto final de água
gorgolejou com ruídos surdos no interior do motor enquanto Suratt guardava o
balde e saltava por cima da porta cega. Ligou os faróis, que funcionavam graças
a um gerador. Quando o carro estava em baixa velocidade, a luminosidade dos
faróis ia aumentando aos poucos, mas quando o motorista acionava a
embreagem, as luzes se atenuavam até um fulgor tremeluzente, pouco mais do
que uma sombra luminosa.
A noite havia caído quando chegaram à cidade. De longe, as luzes do relógio
no edifício do tribunal lembravam contas amareladas sobre o arvoredo e, em
meio ao reflexo esverdeado, uma coluna de fumaça elevava-se como uma pluma
em equilíbrio. Suratt os deixou diante do restaurante e partiu; quando entraram,
de trás do balcão o proprietário ergueu a cabeça cônica e os olhos arregalados e
deliquescentes.
“Deus do céu, rapaz”, exclamou, “ainda não voltou para casa? Peabody está
atrás de você desde as quatro, e a senhorita Jenny veio até a cidade de charrete
procurando-o. Você vai acabar se matando.”
“Vá se danar, Deacon”, retrucou Bayard, “e traga para mim e o Hub uns dois
dólares de presunto e ovos.”
Mais tarde, já no carro de Bayard, voltaram para buscar o garrafão, Bayard,
Hub e outro rapaz, agente de fretes na estação ferroviária, além de três negros e
um rabecão, acomodados no banco traseiro. Mas não foram mais longe do que
os limites do campo acima da casa e ali ficaram esperando enquanto Hub
continuou a pé pela trilha arenosa até o estábulo. A lua pairava pálida e fria no
alto, e por todos os lados os insetos estrilavam no mato poeirento. No banco
traseiro, os negros sussurravam entre eles.
“Bela noite”, sugeriu Mitch, o agente de fretes. Bayard não disse nada.
Fumava absorto, a cabeça encasquetada de ataduras brancas.
A lua e os insetos eram uma coisa só, audível e visível, sem dimensão nem
origem.
Pouco depois, Hub se materializou em meio à vaga claridade da estrada, seu
chapéu inclinado como uma coroa prateada, se aproximou, apoiou o garrafão na
porta do carro e tirou a rolha. Mitch o passou para Bayard.
“Toma aí”, disse Bayard, e Mitch então bebeu. Depois os outros se serviram.
“Não tem nada aqui onde os negros podem beber”, disse Hub.
“É mesmo”, concordou Mitch. Então virou-se no banco. “Vocês não têm um
copo ou algo parecido?” Os negros voltaram a murmurar, confabulando entre
eles, langorosamente consternados.
“Espera um pouco”, disse Bayard. Saiu, levantou o capô e retirou a tampa da
entrada de ar. “Vai ficar com um pouco de gosto de gasolina na primeira ou na
segunda vez. Mas depois vocês nem vão notar nada.”
“Não, sinhô”, concordaram os negros em coro. Um deles pegou a tampa e a
limpou com a ponta de seu paletó, e depois também eles beberam um após o
outro, expelindo ruidosamente o ar dos pulmões após os tragos. Bayard
recolocou a tampa no lugar e entrou no carro.
“Alguém quer mais um trago agora?”, perguntou Hub, com a rolha de
sabugo de milho na mão.
“Dê mais um pouco para o Mitch”, orientou Bayard. “Ele tem que nos
alcançar.”
Mitch bebeu de novo. Então Bayard pegou o garrafão e o virou.
Os outros o observavam com respeito.
“O homem bebe mesmo...”, murmurou Mitch. “Eu pensaria duas vezes antes
de beber tanto, se fosse você.”
“É a minha maldita cabeça.” Bayard baixou o garrafão e o passou a Hub.
“Sempre acho que mais um trago vai me aliviar um pouco.”
“O Peabody apertou demais essa atadura”, comentou Hub. “Não é melhor
afrouxar um pouco?”
“Sei lá.” Bayard acendeu outro cigarro e atirou longe o fósforo.
“Acho que vou tirar isso. Já está aí tempo demais.” Levou as mãos à cabeça
e remexeu na atadura.
“Melhor não bulir”, aconselhou Mitch. Mas ele continuou a remexer; então
enfiou os dedos sob uma dobra da faixa e passou a puxá-la freneticamente. Um
dos negros se inclinou para o banco da frente com um canivete e a cortou, e
então observaram ele retirar a atadura e jogá-la longe.
“Não devia ter feito isso”, Mitch disse a ele.
“Ah, deixa ele tirar se quiser”, comentou Hub. “Ele é legal.” Entrou no carro
e acomodou o garrafão entre os joelhos, e Bayard manobrou o carro para o outro
lado. A estrada arenosa sibilou sob os pneus largos, depois subiu cascalhenta de
novo pelo bosque, onde o luar matizado e intermitente revelava-se fugazmente
entre as copas. Invisíveis e ilocáveis entre os cambiantes padrões de luz e
sombra, os bacuraus mais pareciam emitir um som deliquescente de flautas. Ao
sair do bosque, o caminho seguia em declive e, após arriscadas e silenciosas
derrapagens na areia, desembocaram na estrada do vale e tomaram a direção
oposta à da cidade.
O carro avançava com o sibilo seco do escapamento silencioso. Os negros
cochichavam entre eles com langorosos surtos de risadas que se dispersavam ao
vento como pedaços de papel rasgado. Passaram pelos portões de ferro da casa
de Bayard, serena entre as árvores sob o luar, pela silenciosa estação secundária
de trem e pela descaroçadora de algodão com teto metálico junto ao ramal
ferroviário.
Por fim chegaram ao pé da serra. A estrada subia com suavidade, estava
vazia e ventava muito; os negros se calaram quando Bayard aumentou a
velocidade. Mas ainda não era nada parecido com o que tinham imaginado a
respeito dele. Em dois outros momentos pararam e beberam mais, e então, de um
dos cumes mais altos, avistaram outro aglomerado de luzes, parecidas com
contas junto ao talho descorado que assinalava o percurso da ferrovia. Hub tirou
de novo a tampa da entrada de ar e todos voltaram a beber.
Passaram vagarosamente por ruas idênticas àquelas em que viviam, seguindo
em direção a uma praça também idêntica. Nesta, as pessoas se voltaram e os
contemplaram curiosas. Eles passaram pela praça, viraram em uma rua,
avançaram por entre jardins imensos e janelas com cortinados, depois
atravessaram um portão de ferro e foram até o fundo do terreno, entre árvores
escuras e prateadas e janelas acesas dispostas em fileiras ordenadas, como
lanternas retangulares penduradas entre os galhos.
Ali estacionaram, na sombra. Os negros desceram e tiraram do carro o
rabecão e um violão. O terceiro segurava um tubo afilado e coberto de chaves
nas quais o luar intermitente reverberava em pontos claros, e ficaram juntos,
confabulando aos sussurros e dedilhando acordes queixosos em surdina. Então o
negro da clarineta a levou aos lábios.
As músicas eram antigas. Algumas delas eram requintadas e formalmente
complexas, mas na execução isso se perdia em favor de uma similaridade
lamentosa, uma simplicidade indistinta e cadenciada; e vagavam em ricos e
melancólicos acordes no ar prateado, desfazendo-se e morrendo em reiterações
menores ao longo das indistintas vistas enluaradas. Em seguida, tocaram uma
antiga valsa. O Cérbero do colégio cruzou o gramado mosqueado e apoiou os
braços na cerca, uma sombra maciça à escuta entre sombras. No outro lado da
rua, igualmente nas sombras, havia outros ouvintes. Um carro aproximou-se e
parou junto ao meio-fio, desligando o motor e os faróis, e de suas janelas
alinhadas irromperam cabeças, aureoladas pelos aposentos iluminados mais
atrás, indistintas, femininas, distantes, de uma delicada e divina juventude.
Tocaram “Home, Sweet Home” e, encerrado o magnífico acorde menor, do
lado oposto ouviram-se palmas suaves de mãos finas. Em seguida Mitch cantou
“Good Night, Ladies” com sua legítima e melodiosa voz de tenor, e as mãos
juvenis mostraram-se ainda mais insistentes, e quando afinal se afastaram no
carro, as cabeças esguias inclinaram-se, com reluzentes auréolas nos cabelos, nas
janelas iluminadas, e as palmas suaves os acompanharam por um tempo, cada
vez mais baixas no silêncio prateado e na infinitude da lua.
Fora da cidade, no alto do primeiro morro, voltaram a parar, e Hub tirou de
novo a tampa do silenciador. Atrás deles, luzes esparsas brilhavam entre as
árvores, e era como se, através do mundo aquietado, ainda lhes chegassem os
sons de palmas juvenis como delicadas flores lançadas aos pés da virilidade e
juventude deles, e então beberam calados, embalados pela magia fugaz daquele
momento. Mitch cantarolou baixo para si mesmo; e o carro deslizou e voltou a
ronronar.
A estrada descia em uma curva suave, vazia e esbranquiçada. De repente,
ouviu-se a voz ríspida Bayard.
“Desliga, Hub”, disse. Hub inclinou-se para a frente e enfiou a mão sob o
painel, e o carro arremeteu com um ronronar firme e contido, como se asas
ribombantes tivessem sido acionadas; em seguida, a estrada se estendia em longo
declive até a outra subida, o ronronar virou um ronco cada vez mais forte e o
carro disparou com uma violência de romper o pescoço. Os negros haviam
parado de conversar; um deles soltou um grito lamuriento.
“Reno perdeu o chapéu”, disse Hub, olhando para trás.
“Ele não precisa disso”, retrucou Bayard. O carro subiu roncando o morro,
passou rapidamente por sua crista e, sem diminuir a velocidade, entrou em uma
curva fechada.
“Ó Deus”, gemeu o negro. “Nhô Bayard!” A ventania dispersou suas
palavras como folhas. “Deixa eu descer, nhô Bayard!”
“Pode pular se quiser”, respondeu Bayard. A estrada despencou sob eles
como um piso instável e se expandiu através de um vale, agora tão reta quanto
uma fita. Os negros agarraram os instrumentos e se apertaram uns contra os
outros. O ponteiro do velocímetro passou pelos oitenta e oito, noventa e cinco
quilômetros, e ia pouco a pouco avançando mais. Aqui e ali casas relampejavam
em sua modorra, e os campos e trechos de mata passavam como túneis.
A estrada cruzava a terra escura e prateada. Os bacuraus chamavam de
ambos os lados, um inquirindo o outro, em reiterações líquidas; vez por outra,
quando os faróis faziam uma varredura nas curvas abruptas do caminho, dois
pontos de fogo pálido piscavam na poeira adiante enquanto a ave debatia-se
desajeitadamente abaixo do radiador. A serra ficava cada vez mais alta, as
encostas recobertas de árvores que se precipitavam de um e outro lado. Esparsos
barracos de negros jaziam nas encostas ou às margens da estrada.
Começaram então a descer, depois a estrada voltou a subir em um longo
aclive interrompido por outra descida; em seguida ela se encompridou bem à
frente deles como uma muralha. O carro disparou para o alto, arremessando-se
ao ar no início do declive, com as rodas completamente fora da estrada, e depois
precipitou-se pavorosamente, enquanto os gemidos conjuntos dos negros se
confundiam e se dispersavam desesperados. Quando atingiram o cume da serra,
cessou o ribombar do carro e este foi pouco a pouco se imobilizando. Os negros
estavam encolhidos no piso da parte traseira.
“É aqui o céu?”, murmurou um deles pouco depois.
“E cê acha que alguém ia te deixar entrar no céu, com esse bafo de pinga e
sem chapéu?”, replicou um dos outros.
“Se Deus cuidar de mim do jeito que cuidou daquele chapéu, de jeito
nenhum quero ir pra lá”, retrucou o primeiro.
“Mmmmmmm”, assentiu o segundo, “quando passamo no fundo antes do
último morro, a clarineta quase avoou pra longe da minha mão, sem falar no meu
chapéu.”
“E quando saltamos sobre aquele troço ou seja lá o que for”, acrescentou o
terceiro, “achei na hora que o carro todo ia explodir pra longe de mim.”
Então voltaram a beber. Soprava uma brisa fria lá no alto. Para ambos os
lados, vales repletos de névoa prateada e de bacuraus, e, mais adiante, a terra
prateada estendia-se até o céu. Ao longe, um cão latiu, tristonho e remoto. A
cabeça de Bayard estava agora tão fresca e desanuviada quanto um sino sem
badalo. E por fim, em seu interior, emergiu com nitidez aquele rosto: aqueles
dois olhos arregalados de grave perplexidade, enquadrados serenamente pelos
cabelos.
Era aquela garota Benbow, disse a si mesmo, e ficou sentado um tempo, os
olhos fitos no céu. As luzes no relógio da cidade eram firmes e amareladas e
constantes na distância que se perdia, mas em todas as outras direções o mundo
se perdia em serranias sonolentas e opalinas.
“Eu estou bem”, insistiu Narcissa. “Só não tenho vontade de comer.”
“Isso é o que você acha. Está abatida demais, e Deus sabe que não tenho
mais força para cuidar de você. Na minha época, os jovens tinham mais
consideração pelos mais velhos.” Ela mastigava a comida de modo pouco
atrativo, rabugenta e monotonamente retrospectiva, enquanto Narcissa mexia
impacientemente no prato o alimento que não conseguia comer. Mais tarde a tia
Sally prosseguiu com seu monólogo, balançando-se na cadeira com um
interminável trabalho de agulha no colo. Ela jamais dizia o que seria aquilo
quando terminado, nem para quem estava destinado, e vinha se dedicando a ele
durante quinze anos, sempre levando consigo uma disforme bolsa de brocado
gasto e puído, repleta de retalhos coloridos em todos os formatos imagináveis.
Ela nunca conseguia decidir-se a cortá-los de acordo com algum padrão; por
isso, ficava trocando um pelo outro, colocando-os lado a lado, refletindo e
reordenando-os como peças de um paciente quebra-cabeça, tentando ajustá-los a
um padrão ou, a partir deles, descobrir um padrão sem recorrer às tesouras; ela
alisava e reordenava interminavelmente aqueles retalhos coloridos com seus
dedos flácidos e esbranquiçados. E do regaço de seu vestido, a agulha em que
Narcissa enfiara a linha para ela balançava sua meada de aranha. Sentada no
outro lado da sala, Narcissa estava com um livro na mão. A voz da tia Sally
prosseguia com sua lenga-lenga monótona, rezingando interminavelmente,
enquanto Narcissa lia
De repente ela se ergueu, pôs de lado o livro, atravessou o aposento e entrou
na alcova onde ficava o piano. Porém, nem bem tocou quatro notas suas mãos
despencaram em um acorde dissonante, e ela fechou o piano e foi até o telefone.
A senhorita Jenny agradeceu-lhe com mordacidade a solicitude e atreveu-se a
dizer que Bayard estava bem: ainda um membro ativo da chamada raça humana,
isto é, considerando-se que não haviam recebido nenhum relatório oficial do
legista. Não, não recebera nenhuma outra notícia dele desde que Loosh Peabody
ligou às quatro da tarde, dizendo que Bayard estava a caminho de casa com a
cabeça quebrada.
Quanto à cabeça quebrada ela não tinha a menor dúvida, mas à outra parte da
mensagem ela não dera o menor crédito, tendo convivido com os malditos
Sartoris por oitenta anos e sabendo muito bem que o último lugar no mundo em
que um Sartoris com a cabeça quebrada pensaria em voltar seria para casa. Não,
ela não tinha o menor interesse em saber onde ele poderia estar agora e esperava
que ele não tivesse ferido o cavalo. Os cavalos são animais valiosos.
Narcissa voltou à sala de estar e explicou à tia Sally com quem estivera
falando e por que motivo, e puxou uma cadeira baixa para junto da lâmpada e
pegou o seu livro.
“Bem”, disse a tia Sally após um instante, “se você não vai falar nada...”
Então juntou os seus retalhos e os enfiou na bolsa. “Às vezes, dou graças a Deus
que você e Horace não são meus parentes de sangue, do jeito que levam a vida.
Mas se você quisesse tomar sassafrás, não sei quem lhe daria: eu já não consigo
mais, e você, você nem conseguiria distinguir o sassafrás da macela-do-campo
ou do verbasco.”
“Eu estou bem”, protestou Narcissa.
“Vá em frente”, repetiu a tia Sally, “fique de cama, comigo e com aquela
negra incapaz de cuidar de você. Ela não tirou o pó de uma única moldura em
seis meses, e disto tenho absoluta certeza. E eu fiz de tudo, agora só falta
implorar e rezar.” Então ela se levantou e disse boa-noite e saiu mancando da
sala. Narcissa continuou sentada, folheando o livro, ouvindo a outra subir a
escada com as batidas medidas e laboriosas de sua bengala, e por mais algum
tempo ficou ali, tentando ler o livro.
Mas logo o colocou de lado e voltou ao piano; porém, ao ouvir as batidas de
bengala da tia Sally no piso acima, desistiu de tocar e retomou sua leitura. Por
isso, foi com prazer genuíno que recebeu a visita do doutor Alford pouco depois.
Ela estava sem apetite na hora do jantar; a tia Sally Wyatt mastigava a sua
comida especial e macia, lamuriando-se em resmungos por ela não estar se
alimentando.
“Minha mãe sempre fazia com que eu tomasse um bom copo de chá de quina
quando ficava amuada à mesa e sem vontade de comer”, contou a tia Sally, “mas
o pessoal hoje acha que o bom Deus vai cuidar deles e que não precisam nem
mesmo levantar um dedo.”
“Estava passando e ouvi o piano”, explicou ele. “Não me diga que parou de
tocar?”
Ela lhe disse que a tia Sally acabara de se recolher, ele sentou-se
cerimoniosamente e, durante duas horas, falou, à sua maneira rígida e pedante,
de assuntos pouco interessantes e eruditos. Depois foi embora e ela o
acompanhou até a porta e de lá o viu descer até a rua com o carro. A lua pairava
no alto; às margens do caminho de entrada, os cedros, dispostos em curva,
erguiam suas pontas contra o céu pálido e ligeiramente brilhante.
Ela retornou à sala, pegou o livro, desligou as luzes e subiu a escada.
No outro lado do vestíbulo superior, a tia Sally ressonava polida e
sossegadamente, e Narcissa ficou ali um momento a ouvir o ruído familiar. “Vai
ser bom quando Horry voltar”, pensou, e seguiu adiante.
Acendeu a luz, despiu-se e levou o livro para a cama, onde voltou a
deliberadamente submergir sua consciência, como quando se segura um
filhotinho sob a água até que ele pare de se debater. E logo depois seu espírito
rendeu-se ao livro e ela continuou a leitura, interrompendo-a de tempos em
tempos para pensar calidamente no sono, antes de voltar a ler. Assim, quando os
negros começaram a tocar seus instrumentos sob a janela, ela prestou apenas a
atenção mais superficial.
“Por que diabo esses cabeças-ocas estão fazendo uma serenata para mim?”,
ocorreu-lhe um pouco divertida e logo imaginou a tia Sally, com a touca de
dormir, assomando à janela e espantando-os aos gritos.
E ali ficou com o livro aberto, contemplando na página aberta a imagem que
havia evocado enquanto o ritmo melancólico das cordas e da clarineta insinuava-
se pela janela aberta.
Então sentou-se ereta, com uma certeza plena e pungente, fechou o livro com
um ruído e saiu da cama. Da janela do quarto ao lado ela então espiou para
baixo.
Os negros estavam reunidos no gramado; a reluzente clarineta, o violão, o
grave e cômico volume da rabeca. Na rua, junto à entrada, um carro esperava na
sombra. Os músicos terminaram de tocar; então uma voz vinda do carro os
chamou, eles se afastaram pelo gramado e o carro partiu, sem acender os faróis.
Agora ela tinha certeza: ninguém mais faria tocar uma única música sob a janela
de uma dama, apenas o suficiente para despertá-la do sono, e então iria embora.
Voltou ao seu quarto. O livro estava com a capa virada para cima na cama,
mas ela foi à janela e ali ficou, no vão das cortinas, contemplando o mundo
negro e prateado e a noite sossegada. Uma brisa moveu-se por seu rosto e pelas
escuras e pendentes madeixas de seus cabelos com intenso frescor. “A besta, a
besta”, murmurou para si.
Fechou as cortinas e, descalça e silenciosa, desceu a escada, e achou o
telefone na escuridão, abafando a campainha com a mão ao ligar.
A voz da senhorita Jenny emergiu da noite com sua costumeira aspereza
ríspida e fria, sem demonstrar surpresa ou curiosidade. Não, ele não havia
voltado para casa, pois agora estava em segurança, trancado em uma cela,
acreditava ela, a menos que os policiais da cidade fossem corruptos demais para
atender ao pedido de uma senhora.
Fazendo serenata? Bobagem. Por que motivo ele iria fazer uma serenata?
Ele não podia se ferir em uma serenata, a menos que alguém o atingisse com
um ferro de passar ou um relógio despertador. E por que ela estava tão
preocupada com ele?
Narcissa desligou e por um instante ficou no escuro, golpeando com os
punhos a impassível caixa do telefone. A besta, a besta.
Foram três os visitantes de Narcissa naquela noite. Um deles apresentou-se
formalmente; o segundo, informalmente; e o terceiro, anonimamente.
A garagem onde guardava seu carro era uma pequena construção de tijolos
rodeada de sempre-vivas. Uma de suas paredes era continuação do muro do
jardim. Atrás dele, uma viela gramada conduzia a outra rua. A garagem ficava a
cerca de quinze metros da casa e seu telhado ficava na mesma altura das janelas
do primeiro andar: as janelas do quarto de Narcissa davam exatamente para uma
das águas de seu telhado.
O terceiro visitante veio pela viela, escalou o muro e daí subiu ao telhado da
garagem, onde agora estava deitado sob um cedro, protegido do luar. Ali
permaneceu bastante tempo. O quarto à sua frente estava escuro quando chegou,
mas havia ficado imóvel e quieto como um animal, com uma paciência de
animal, sem se mexer, exceto para erguer a cabeça vez por outra e espreitar a
cena imediata, dardejando dissimuladamente os olhos.
O quarto continuou na escuridão durante uma hora. Nesse meio-tempo, um
carro subiu pelo caminho de entrada (ele o reconheceu, pois conhecia todos os
carros da cidade) e um homem entrou na casa.
Passou-se mais uma hora e o quarto continuava na escuridão, e o carro
continuava parado diante da casa. Então o homem saiu dirigindo o carro, e
pouco depois as luzes se apagaram no térreo, e aí a janela diante dele se
iluminou, e através das cortinas diáfanas ele a viu andando pelo quarto e
acompanhou os movimentos ensombrecidos que fez ao se despir. Então ela saiu
de seu campo de visão. Mas a luz ainda ficou acesa e ele continuou deitado
imóvel, com infinita paciência; permaneceu assim até que, uma hora depois,
outro carro parou diante da casa e três homens carregando um volume de forma
desajeitada subiram pelo caminho de entrada e ficaram ao luar sob a janela;
permaneceu assim até que tocaram uma música e depois partiram. Quando se
afastaram ela veio à janela, afastou as cortinas e ficou um instante no escuro,
com suas madeixas, fitando diretamente os olhos ocultos dele.
Depois as cortinas se fecharam e mais uma vez ela se tornou um movimento
de sombras atrás delas. Então a luz foi apagada e ele ficou de bruços no aclive
íngreme do telhado, sem fazer qualquer movimento durante um longo tempo,
lançando por debaixo de seu rosto oculto olhares dissimulados e incessantes,
rápidos e dardejantes, vasculhando tudo como se fossem de um animal.
Por fim chegaram à casa de Narcissa. Haviam visitado, uma após a outra, as
casas escuras de todas as outras jovens solteiras, e permanecido no carro
enquanto os negros se postavam nos gramados com seus variados instrumentos.
Cabeças haviam assomado em janelas escuras, às vezes luzes eram acendidas;
uma vez foram convidados a entrar, mas Hub e Mitch se retraíram por timidez;
outra vez foram oferecidos refrescos; outra, ainda, foram vigorosamente
xingados por um rapaz que calhou de estar sentado com a jovem na penumbra da
varanda. Entretanto haviam perdido a tampa da entrada de ar, e enquanto iam de
uma casa para a outra, todos os seis bebiam fraternalmente do garrafão, cada um
por vez, vezes e vezes. Por fim chegaram à casa dos Benbow e tocaram mais
uma vez sob os cedros. Havia luz ainda em uma janela, mas ninguém apareceu.
A lua pairava baixa no céu. Agora lançava uma gélida luminosidade prateada
sobre as coisas, gasta e um tanto fatigada, e o mundo estava vazio enquanto
rodavam com os faróis apagados por uma rua sem vida e fixada em preto e prata
como qualquer rua na própria lua.
Sob matizadas sombras intermitentes eles seguiram, passando cruzamentos
tranquilos que se dissolviam atrás, ocasionalmente um carro estacionado diante
de uma casa. Um cão atravessou a rua, trotando diante deles, entrou em um
jardim e desapareceu, mas fora isso não havia nenhum movimento em parte
alguma.
A praça estendeu-se imensa junto à esverdeada, e turva como absinto, massa
de olmos ao redor do prédio do tribunal. Entre eles os globos redondos e
espaçados pareciam mais do que nunca uvas enormes e pálidas. Nos arcos
abertos diante de cada banco, luziam lâmpadas solitárias; no interior do saguão
do hotel, outra lâmpada isolada. E fora isso não havia mais nenhuma lâmpada
acesa.
Circundaram o prédio do tribunal, e uma sombra se mexeu junto à porta do
hotel, destacou-se da escuridão e aproximou-se do meio-fio, a camisa branca
cintilando sob um casaco largo; e quando o carro virou lentamente na direção de
outra rua, o homem fez um sinal para eles. Bayard parou, o homem atravessou a
poeira esbranquiçada e apoiou a mão na porta.
“Olá, Buck”, cumprimentou Mitch. “Acordado até tarde, não é?”
O homem tinha a expressão de um cavalo tranquilo e de bom ânimo. Trazia
uma estrela de metal no colete desabotoado. E seu casaco exibia uma ligeira
protuberância na altura da cintura.
“E então, rapazes, o que andam fazendo?”, perguntou. “Foram a um baile?”
“Fazendo serenatas”, respondeu Bayard. “Quer tomar um gole, Buck?”
“Não, obrigado.” E continuou com a mão na porta, com uma seriedade
bonachona e grave. “Também não está ficando tarde para vocês, rapazes?”
“É verdade, está ficando mesmo”, concordou Mitch. O delegado então
colocou o pé no estribo do carro. Sob o chapéu seus olhos ficaram na sombra.
“Já estávamos indo para casa”, disse Mitch. O outro permaneceu calado, e
Bayard acrescentou: “Claro, vamos para casa agora mesmo.”
O delegado virou um pouco a cabeça e dirigiu a palavra aos negros.
“Imagino que vocês também já estão prontos para dormir, não é mesmo?”
“Sim, sinhô”, responderam os negros, e começaram a sair do carro e a tirar o
rabecão. Bayard deu a Reno uma nota de dinheiro, eles agradeceram, disseram
boa-noite, agarraram o rabecão e afastaram-se calmamente por uma transversal.
O delegado volveu de novo a cabeça.
“Aquele carro na frente do café do Roger é o seu, não é, Mitch?”, perguntou.
“Deve ser. Foi lá que o deixei.”
“Bem, imagino que você vai levar o Hub para casa, para que ele não durma
aqui na cidade. Bayard, é melhor você vir comigo.”
“Ó, que diabo, Buck!”, protestou Mitch.
“Para fazer o quê?”, indagou Bayard.
“Os parentes deles estão preocupados”, respondeu o outro. “Ainda não viram
nem sombra dele desde que o garanhão o derrubou. Cadê a atadura, Bayard?”
“Joguei fora”, foi a resposta abrupta. “Olha aqui, Buck, vamos nos despedir
de Mitch, e aí Hub e eu vamos direto para casa.”
“Você está indo para casa desde as quatro da tarde, Bayard”, respondeu
afável o delegado, “mas parece que não está conseguindo nem chegar perto.
Acho melhor vir comigo esta noite, como recomendou a sua tia.”
“Então a tia Jenny lhe pediu que me prendesse?”
“Estão preocupados com você, filho. A senhorita Jenny só me ligou e pediu
que eu cuidasse para que você ficasse bem até de manhã. Por isso acho melhor
fazermos isso. Você devia ter ido para casa no começo da noite.”
“Ah, tenha dó, Buck”, protestou Mitch.
“Prefiro me indispor com o Bayard do que com a senhorita Jenny”, replicou
o outro pacientemente. “Agora é melhor vocês irem, e o Bayard vem comigo.”
Mitch e Hub saltaram do carro, Hub tirou o garrafão, se despediram e
caminharam até o lugar em que Mitch havia parado o carro, em frente ao
restaurante. O delegado entrou e sentou-se ao lado de Bayard. A cadeia não
ficava longe. Ela logo assomou acima de seu pátio murado, quadrada e
implacável, suas estreitas janelas superiores tão brutais quanto golpes de sabre.
Viraram em uma viela, o delegado desceu e abriu o portão, e Bayard conduziu o
carro para dentro do pátio atulhado e sem grama e parou, enquanto o outro ia até
uma pequena garagem na qual havia um Ford. Ele deu a ré no carro e fez um
sinal para que Bayard estacionasse ali. A garagem fora construída para o
tamanho do Ford e cerca de um terço do carro de Bayard ficou sobrando para
fora.
“Melhor do que nada”, comentou o delegado. “Vamos.” Entraram pela
cozinha, pela área em que vivia o carcereiro, e Bayard esperou em um corredor
escuro até que o outro encontrasse o interruptor da luz. Em seguida adentrou um
cômodo desolado e limpo, contendo escassa e disparatada mobília e uns poucos
itens dispersos de vestuário masculino.
“Mas”, objetou Bayard, “você não está me dando a sua própria cama, está?”
“Não vou precisar dela até amanhã de manhã”, respondeu o outro.
“Até lá você já terá ido embora. Precisa de ajuda com a roupa?”
“Não, estou bem.” Aí, mais afável: “Boa noite, Buck. E muito obrigado.”
“Boa noite”, respondeu o delegado.
Quando fechou a porta ao sair, Bayard tirou o paletó, os sapatos e a gravata,
desligou a luz e estendeu-se na cama. O luar filtrava-se impalpável pelo quarto,
refletido e difuso; nenhum som perturbava a noite. Além da janela erguia-se uma
cornija em uma sucessão de degraus rasos, destacando-se de um céu opalino e
sem dimensões. A cabeça dele estava desanuviada e calma; o uísque que havia
bebido estava completamente neutralizado. Ou antes, era como se a cabeça dele
fosse a de um Bayard que jazia em uma cama estranha e cujos nervos
apaziguados pelo álcool se irradiavam como filamentos de gelo através daquele
corpo que teria de arrastar para sempre em um mundo estéril e desolado.
“Maldição”, exclamou, deitado de costas, olhando pela janela onde não havia
nada para se ver, esperando pelo sono, sem saber se ele viria ou não, sem dar a
mínima para qualquer uma dessas possibilidades. Nada para se ver, e a longa,
longa trajetória de uma vida humana. Três vintênios e um decênio para arrastar
um corpo obstinado pelo mundo e atender a suas insistentes demandas.
Três vintenas e mais dez, dizia a Bíblia. Setenta anos. E ele tinha apenas
vinte e seis. Pouco mais de um terço completado. Maldição.
PARTE TRÊS
1.
Horace Benbow, em seu imaculado e mal-ajambrado uniforme, que lhe
acentuava ainda mais o ar de requintada e delicada futilidade, carregando uma
assombrosa quantidade de mochilas e bolsas e pacotes embrulhados em papel,
chegou no trem das duas e meia. Através da massa compacta de passageiros que
embarcavam e desembarcavam, foi alcançado pelo som de seu nome e passeou o
olhar agitado, como um sonâmbulo despertando em meio ao tráfego, pelo
aglomerado de rostos. “Olá, olá”, disse; abriu então um espaço para si e
desvencilhou-se das bagagens e pacotes, depositando-os na beira da plataforma e
caminhando com pressa deliberada ao lado do trem rumo ao compartimento das
bagagens.
“Horace!”, gritou de novo sua irmã, correndo atrás dele. O chefe da estação
emergiu de sua sala e fez com que parasse e segurou-o como a um cavalo de raça
impaciente e o cumprimentou, permitindo que a irmã o alcançasse. Ele se virou
ao ouvi-la e emergiu de seu estado absorto e a agarrou pelos braços até que os
pés dela ficassem no ar, e então a beijou na boca.
“Minha querida Narcy”, disse, beijando-a de novo. Após colocá-la de volta
no chão, acariciou-lhe o rosto com as mãos, como uma criança. “Minha querida
Narcy”, repetiu, tocando o rosto dela com suas mãos finas e alongadas, fitando-a
como se estivesse se impregnando, através dos olhos, da inabalável serenidade
dela. Continuou a repetir “Minha querida Narcy”, acariciando-lhe o rosto,
completamente esquecido do que o rodeava até que ela o lembrou.
“Mas afinal aonde você estava indo desse jeito?”
Aí ele se lembrou, soltou-lhe a mão e saiu correndo, seguido por ela, e só
parou diante da porta do vagão das bagagens, do qual o carregador da estação e
outro do trem tiravam baús e caixas e os entregavam ao responsável pelas
bagagens da estação.
“Por que você não manda eles levarem depois?”, perguntou ela.
Mas ele continuou espiando dentro do vagão, de novo esquecido da presença
dela. Os dois negros voltaram e ele deixou-os passar, ainda olhando para dentro
do vagão com movimentos de cabeça curiosos e parecidos com os de uma ave.
“Vamos pedir que entreguem em casa”, repetiu a irmã.
“O quê? Ah. Fiz isso todas as vezes que mudei de trem”, contou ele,
esquecendo por completo do significado das palavras da irmã.
“Seria um azar danado perdê-lo tão perto de casa, não é?” Quando os negros
se afastaram com outro baú, ele avançou e de novo espiou dentro do vagão. “E
acho que foi isso o que aconteceu; alguém deve ter esquecido de colocá-lo no
trem em M... ah, está ali”, interrompendo a frase. “Cuidado aí, capitão”, gritou
alarmado no linguajar local, enquanto o funcionário batia na porta com um
caixote de formato estranho, no qual fora gravado com estêncil um endereço
militar; “tem coisa de vidro aí dentro.”
“Tudo bem, coronel”, assentiu o responsável pelas bagagens. “Não
aconteceu nada, acho. Se quebrou algo, tudo o que o senhor tem a fazer é meter
um processo na gente.” Os dois negros voltaram para a porta e Horace colocou
as mãos no caixote enquanto o encarregado das bagagens o inclinava para fora.
“Devagar aí, pessoal”, repetiu nervoso, e saiu trotando ao lado deles
enquanto cruzavam a plataforma. “Baixem com cuidado agora. Ei, mana, venha
dar uma ajuda aqui, por favor?”
“Tá tudo bem, capitão”, disse o carregador da estação, “não vamo deixar isso
cair não.” Mas Horace continuou a tentar ampará-la com as mãos, e quando
afinal a depositaram no chão, ele encostou o ouvido na caixa.
“Tá tudo bem, não tá?”, perguntou o carregador da estação.
“Tá, tá tudo bem”, tranquilizou o carregador do trem, que em seguida se
afastou. “Vambora”, chamou.
“Acho que está tudo certo”, concordou Horace, ainda com a orelha pregada
no caixote. “Não ouço nada. Tudo está muito bem embalado.
A locomotiva apitou, Horace se aprumou e, enfiando a mão no bolso, correu
até os vagões que começavam a se mover. O carregador fechava a porta do
vagão, mas se inclinou até a mão de Horace, e então endireitou o corpo e levou a
mão ao quepe. Horace retornou para o caixote e deu mais uma moeda ao outro
negro. “Leve-o para dentro da estação para mim, cuidado, agora”, orientou.
“Volto num instante para buscar.”
“Tá bem, nhô Benbow. Pode deixar que tomo conta dele.”
“Uma vez achei que o tinha perdido”, confidenciou Horace, enfiando o braço
sob o da irmã, enquanto caminhavam até o carro dela. “Ele ficou preso em Brest
e só pôde vir no vapor seguinte. Eu tinha comigo o primeiro equipamento que
comprei — bem menor –, e quase perdi esse também. Um dia estava no barco,
soprando uma coisa pequena na cabine, quando tudo, a cabine e o resto, pegou
fogo. Aí o capitão decidiu que era melhor eu não tentar nada de novo até que
chegássemos ao porto, uma vez que tinha tanta gente no barco. O vaso acabou
saindo bem interessante, mesmo assim”, ele tagarelava, “uma coisinha adorável.
Estou pegando o jeito da coisa, estou mesmo. Veneza. Um sonho voluptuoso, um
tanto sinistro. Preciso te levar lá um dia.” Em seguida, apertou o braço dela e
passou a repetir “Minha querida Narcy”, como se o som familiar do apelido em
seus lábios fosse um gosto amado e jamais esquecido.
Agora havia pouca gente na estação. Algumas pessoas lhe dirigiram a
palavra e ele parou para cumprimentá-las, e um fuzileiro naval com a cabeça de
índio da Segunda Divisão nos ombros notou o triângulo na manga de Horace e
fez um ruído vulgar e depreciativo com os lábios fechados.
“E aí, companheiro?”, disse Horace, fitando-o com seu olhar tímido e
sobressaltado.
“Noite, general”, respondeu o fuzileiro. Em seguida, cuspiu, não exatamente
nos pés de Horace, tampouco em nenhum outro lugar.
Narcissa apertou o braço do irmão contra o corpo.
“Vamos para casa e lá você pode se trocar e colocar uma roupa decente”,
disse ela em tom mais baixo, empurrando-o para a frente.
“Deixar de usar o uniforme?”, disse ele. “Acho até que fico bem de
uniforme”, acrescentou, um tanto ferido. “Acha mesmo que estou ridículo
assim?”
“Claro que não”, retrucou ela de imediato, apertando-lhe a mão.
“De maneira nenhuma. Lamento ter dito isso. Use o uniforme quanto tempo
quiser.”
“É um uniforme digno”, disse ele, mais calmo. “Não me refiro a isso”, disse,
apontando o símbolo em seu braço enquanto caminhavam.
“Daqui a uns dez anos, as pessoas vão se dar conta, quando a histeria dos não
combatentes tiver passado e cada soldado perceber que não foi a Força
Expedicionária que inventou a decepção.”
“E o que foi que ela inventou?”, indagou ela, mantendo o braço junto ao
dele, envolvendo-o na terna e desatenta serenidade de sua afeição.
“Deus é quem sabe... Minha querida Narcy”, disse ele outra vez, e cruzaram
a plataforma em direção ao carro dela. “Então você perdeu o gosto por
uniformes militares?”
“Claro que não”, repetiu ela, sacudindo-lhe um pouco o braço ao soltá-lo.
“Use isso o tempo que quiser.” Abriu a porta do carro.
Alguém os chamou, eles se voltaram e viram o carregador trotando na
direção deles com a bagagem de mão, que Horace havia deixado na plataforma
ao correr atrás da caixa.
“Ó meu Deus”, exclamou ele, “me preocupo com isso durante seis mil
quilômetros, para abandoná-la diante da porta de casa. Muito obrigado, Sol.” O
carregador guardou as coisas no carro. “Esse é o primeiro equipamento que
arrumei”, Horace acrescentou para a irmã, “e aquele vaso que fiz a bordo. Vou te
mostrar assim que chegarmos em casa.”
A irmã se acomodou atrás do volante. “E onde estão as suas roupas? Na
caixa?”
“Não trouxe nada. Tive de jogar fora a maior parte para conseguir espaço.
Não tinha lugar para mais nada.” Narcissa parou e o fitou por um instante com
terna exasperação. “O que foi?”, perguntou ele inocentemente. “Esqueceu algo?”
“Não, nada. Entre. A tia Sally está esperando para ver você.”
Partiram, e, enquanto subiam a colina umbrosa e suave até a praça, Horace
contemplava feliz as cenas familiares. Ramais ferroviários com vagões de carga;
a plataforma que no outono ficaria repleta de fardos de algodão em fileiras
compactas e rotundas; a usina de energia da cidade, um prédio de alvenaria do
qual vinha um zumbido constante e ininterrupto e perto do qual, na primavera, as
retorcidas árvores-do-céu balançavam suas disformes florações arroxeadas sobre
o fundo de agreste ocre e marrom avermelhado de um barranco talhado de argila.
A seguir, uma rua de residências menores, quase todas novas. Todas parecidas e
apertadas, com um pequeno gramado na frente, casas erguidas por gente da roça
perto da rua, à maneira do campo; vez por outra via-se uma casa em um terreno
que, dezesseis meses antes, quando partira, estava vazio. Então outras ruas se
descortinaram sob as arcadas verdejantes e sombreadas, com residências um
pouco mais antigas e imponentes à medida que se afastavam da vizinhança da
estação; e pedestres, em geral nessa hora moleques negros vadiando ou velhos
recém-despertos de suas sonecas que caminhavam até o centro, onde passariam a
tarde absortos em ocupações graves e fúteis.
A colina culminava em um platô no qual fora erguida a cidade propriamente
dita um século e tanto atrás, e a rua logo adquiriu um aspecto francamente
urbano, com suas garagens e lojinhas, os comerciantes em mangas de camisa e
seus fregueses; o cinematógrafo com seu saguão recoberto de cartazes de filmes,
as cenas expostas em cambiantes litografias coloridas. Adiante vinha a praça,
com seu perfil baixo e ininterrupto de alvenaria velha e desgastada, e os
desbotados nomes mortos ainda obstinados sob a tinta que descascava, e negros
que perambulavam envergando as informais e relaxadas vestes militares usadas
por ambos os sexos, e gente da roça ocasionalmente também em fardas; e os
citadinos mais alertas caminhando apressados em meio à plácida lerdeza
ruminativa dos forasteiros e desviando-se dos homens acomodados em cadeiras
inclinadas diante das lojas.
O prédio do tribunal também era de tijolos, com os arcos de pedra
assomando entre os olmos, e entre as árvores erguia-se o monumento ao soldado
confederado, seu mosquetão na posição de apresentar armas, a mão de pedra
protegendo da luz seus olhos esculpidos.
Sob os pórticos do tribunal e nos bancos do gramado, os patriarcas da cidade
sentavam-se e conversavam e dormitavam esparsamente, também envergando
uniformes. Mas era o cinzento dos generais confederados, do Velho Jack, de
Beauregard e de Joe Johnston, e ali ficavam em uma grave pacatez de sinecuras
políticas desimportantes, fumando e escarrando, em torno de tabuleiros de jogos.
Quando o tempo ficava ruim, eles se mudavam para o escritório do funcionário
do tribunal.
Também era ali que os jovens matavam o tempo, jogando com moedas,
lançando bolas de beisebol uns para os outros, ou deitados na grama até que, no
final da tarde, as meninas com seus pequenos vestidos coloridos e seus baratos
perfumes nostálgicos passassem em grupos, ao cair da noite, a caminho das
lanchonetes no centro da cidade. Quando o tempo estava ruim, esses mesmos
jovens matavam o tempo nas lanchonetes ou na barbearia.
“Muita gente de uniforme ainda”, comentou Horace. “Todos estarão de volta
até junho. E os Sartoris, já voltaram para casa?”
“John morreu”, respondeu a irmã. “Você não sabia?”
“Não, não sabia”, disse em seguida, subitamente consternado. “Coitado do
Bayard Velho. Que azar o deles, não? É uma gente curiosa.
Sempre metidos em guerras e sempre sendo mortos. E a mulher do jovem
Bayard também morreu, não é? Você me contou numa carta.”
“É, mas ele está de volta. Agora tem um carro de corrida e passa o tempo
andando como um louco pela região. Todo dia a gente espera ouvir que ele se
matou naquele carro.”
“Pobre coitado”, disse Horace, e acrescentou: “Coitado do velho coronel. Ele
que odeia os automóveis como se fossem cobras. Imagino o que deve estar
pensando agora.”
“Bem, eles saem juntos.”
“O quê? O Bayard Velho em um carro?”
“Pois é. Segundo a senhorita Jenny, é para impedir que o Bayard acabe
capotando uma hora dessas. Mas ela também diz que o coronel Sartoris não tem
a menor ideia de que o Bayard não hesitaria um segundo antes de quebrar o
pescoço de ambos; e que provavelmente vai acabar fazendo isso mesmo.” Ela
atravessou a praça, por entre as carroças amarradas e os carros estacionados de
maneira displicente e desordenada. “Odeio o Bayard Sartoris”, disse ela com
súbita veemência; “odeio todos os homens.” Horace lançou-lhe um rápido olhar.
“O que houve? O que o Bayard fez para você? Não, é o inverso: o que você
fez para o Bayard?” Ela, porém, ficou calada. Entrou com o carro por outra rua,
ladeada por lojas de negros térreas e ensombrecidas por toldos metálicos sob os
quais os negros matavam o tempo, descascando bananas ou abrindo pequenos e
floridos pacotes de biscoitos doces, e depois passou por um moinho de grãos
movido por um espasmódico motor a gasolina, de onde se elevava uma nuvem
de fuligem de ração e pó joeirado, como ciscos nos raios de sol, e cuja porta
exibia uma placa laboriosamente escrita à mão: MOINHO W. D. BEARDS. Entre este e
uma descaroçadeira de algodão fechada e silenciosa, ornada de penugentas e
encardidas grinaldas de fiapos, uma bigorna ressoava no fim de um pequeno
beco repleto de carroças, cavalos e mulas, sombreado por amoreiras sob as quais
se acocoravam roceiros vestindo macacões.
“Ele devia ter mais consideração pelo velho”, disse Horace com irritação.
“Seja como for, acabaram de passar por uma experiência que deu uma bela
sacudida na realidade e na humanidade e, tenham ou não ideia do que os espera,
vão ter de enfrentar outra mais adiante que vai dar cabo do assunto. É preciso dar
a ele um tempo... Mas, na minha opinião, não vejo por que não se deva permitir
que ele se mate, se é isso o que ele acha que quer. Mas sinto pela senhorita
Jenny.”
“Lá isso é verdade”, concordou a irmã, de novo em voz baixa. “Também
estão preocupados com o coração do coronel Sartoris. Tudo mundo está, com
exceção dele mesmo e de Bayard, quero dizer. Estou contente de ter você em vez
de um daqueles Sartoris, Horry.”
Ela pousou a mão leve e brevemente no joelho magro do irmão.
“Minha querida Narcy”, disse ele. Aí sua expressão voltou a ficar carregada.
“Que patife!”, exclamou. “Bem, isso é problema deles. E como está a tia Sally?”
“Está bem.” E, logo em seguida: “Estou tão contente que você voltou.”
As lojinhas miseráveis ficaram para trás e a rua se alargou entre velhos
gramados sombreados, amplos e sossegados. Essas casas eram bem antigas, de
aparência pelo menos, construídas longe da rua e da poeira, e delas emanava
uma paz graciosa e benfazeja, firme como uma tarde sem vento num mundo
parado e silencioso.
Horace olhou em torno e deu um longo suspiro.
“Talvez este seja o motivo das guerras”, comentou. “O significado da paz.”
Enveredaram por uma transversal, mais estreita e também mais sombreada e
ainda mais tranquila, com um dourado langor arcádico, e então entraram por um
portão que havia em uma grade de ferro coberta de madressilva. Além do portão,
o caminho de entrada, calçado, ascendia em majestosa curva por entre os cedros.
Estes haviam sido plantados na década de 1840, por um arquiteto inglês que
construíra a casa (com a concessão menor de uma varanda) no ligeiro e fúnebre
estilo Tudor sancionado pela jovem rainha Vitória; e debaixo dos cedros, mesmo
nos dias mais ensolarados, estendia-se uma estimulante penumbra resinosa. Para
lá eram atraídos os sabiás recatadamente melífluos no final da tarde; mas a relva
sob eles era esparsa ou inexistente, e não havia insetos além dos vaga-lumes no
crepúsculo.
O caminho subia até a casa, fazia uma curva diante dela e voltava a descer
para a rua em um arco ininterrupto de cedros. No interior do arco erguia-se um
carvalho solitário, largo e imenso e baixo; em volta de seu tronco havia um
banco de madeira. Junto a essa meia-lua de gramado, e fora do arco de cedros,
viam-se touceiras de grinaldas de noivas e extremosas, velhas como o tempo e
tão imensas quanto este permitia. Eram grandes como árvores e, em um dos
cantos da cerca, havia um assombroso grupo de bananeiras mirradas, e, no outro,
uma lantana, com seus ferimentos coagulados, que Francis Benbow trouxera de
Barbados em uma caixa de cartola, em 1871.
Perto do carvalho e longe da funérea cimitarra do caminho em declive, o
relvado estendia-se até a rua com a grama viçosa interrompida por desordenadas
moitas de junquilhos, narcisos e gladíolos. Originalmente o gramado descia em
terraços, e as flores estavam restritas a um canteiro formal no primeiro terraço.
Mas Will Benbow, pai de Horace e de Narcissa, mandara eliminar os terraços.
Isso foi feito com arados e raspadores, e a grama voltou a ser semeada, o que o
convenceu de ter destruído o canteiro de flores. Todavia, na primavera seguinte,
os bulbos dispersos voltaram a brotar, e agora todos os anos o gramado ficava
salpicado aleatoriamente de brotos amarelos, brancos e rosados. Algumas
meninas pequenas pediram e receberam permissão para colher flores na
primavera, e as crianças dos vizinhos brincavam tranquilamente entre as flores e
sob os cedros.
No alto do caminho de entrada, ali onde fazia uma curva antes de descer para
a rua, ficava a casa de bonecas de alvenaria na qual viviam Horace e Narcissa,
envolta sempre naquele aroma de cedro fresco e ligeiramente adstringente.
Os detalhes arquitetônicos haviam sido realçados de branco e a casa tinha
janelas de batentes fasquiados trazidos da Inglaterra; ao longo dos beirais da
varanda e acima da porta crescia uma trepadeira de glicínia que mais parecia
uma pesada corda alcatroada, mais grossa que o pulso de um homem. As janelas
mais baixas abriam-se para cortinas suavemente onduladas; nos peitoris, a
expectativa era distinguir uma vasilha de madeira polida, ou pelo menos um gato
imaculado e altaneiro. Mas no peitoril da janela havia apenas um cesto trançado
do qual, como um ramo de asa-de-papagaio, pendia a extremidade de uma
colcha de retalhos carmim e branca; na soleira da porta, a tia Sally, uma
excêntrica mulherzinha envergando uma touca, apoiava-se em uma bengala de
ébano com castão dourado.
Tal como deveria ser, e Horace virou-se para trás e contemplou a irmã, que
atravessava o caminho com os pacotes que ele havia esquecido de novo.
Feliz, espadanando água ruidosamente no banheiro, ele gritava através da
porta para a irmã sentada na cama dele. A farda descartada jazia sobre uma
cadeira, guardando ainda em suas dobras puídas e grosseiras, por longa
associação, algo da tensa e delicada futilidade que lhe era própria. No tampo de
mármore da cômoda estavam o cadinho e os tubos do aparato de soprar vidro, o
primeiro que havia adquirido, e, ao lado, o vaso que fizera a bordo do navio —
uma forma pequena e casta em vidro translúcido, medindo menos de quatro
polegadas, frágil como um lírio de prata e inconclusa.
“Eles trabalham em grutas”, gritava através da porta. “A gente tem de descer
por escada até o subsolo. Dá para sentir a água minando sob os pés enquanto
tateamos o degrau seguinte; e quando estendemos a mão para tocar a parede e
nos equilibrar, ela fica molhada. E a sensação é a mesma de tocar em sangue.”
“Horace!”
“É, é maravilhoso. E mais adiante a gente vê o fulgor. De repente o túnel
começa a brilhar sem mais nem menos; aí a gente vê a fornalha, com coisas
subindo e descendo diante dela, bloqueando a luz, e as paredes voltam a reluzir.
No começo são apenas coisas informes e recurvadas. Grotescas, com sombras
nas paredes ensanguentadas, sombras avermelhadas. Um clarão, e formas negras
como figuras de cartão agitam-se e sobem e descem diante dela, como o
obturador de uma lanterna mágica. E então um rosto se destaca, soprando, e
outros rostos como que emergem da escuridão avermelhada como balões
pintados.
“E as próprias coisas. De uma beleza absoluta e trágica. Como flores
preservadas, sabe? Macabras e invioladas; depuradas e purificadas como bronze,
no entanto frágeis como bolhas de sabão. Som cristalizado de um instrumento de
sopro. Flautas e oboés, mas sobretudo pífaros. Pífaros rústicos. As malditas
brotam como flores bem diante dos nossos olhos. O Sonho de Uma Noite de
Verão para uma salamandra.” A voz dele tornou-se ininteligível, elevando-se em
frases cadenciadas que ela não reconhecia, mas que, pelo tom, ela sabia serem os
arcanjos de Milton em sua sonora derrocada.
Por fim ele apareceu, vestindo uma camisa branca e uma calça de sarja, mas
ainda empolgado em suas flamejantes asas verbais, e enquanto a voz entoava as
sílabas cadenciadas, ela foi buscar um par de sapatos no armário, e quando
estacou com os sapatos nas mãos, ele parou de declamar e de novo acariciou-lhe
o rosto com a mão como o faria uma criança.
No jantar, a tia Sally interrompeu-lhe a tagarelice ritmada: “E você trouxe de
volta o seu Snopes?”, perguntou ela. Esse Snopes era um rapaz, membro de uma
família aparentemente inesgotável que, na década anterior, vinha se mudando
aos poucos para a cidade, originária de um pequeno povoado conhecido como a
Curva do Francês. Flem, o primeiro Snopes, um dia surgira sem anunciar atrás
do balcão de um pequeno restaurante em uma rua transversal, frequentado pelo
pessoal da roça. Com esse apoio e tal como o antigo Abraão, foi trazendo para a
cidade os parentes de sangue e de papel, casa após casa, indivíduo após
indivíduo, e arranjou-lhes colocações ali onde poderiam ganhar dinheiro. O
próprio Flem logo se tornou o gerente da usina de eletricidade e água da cidade;
no espaço de poucos anos, tornou-se uma espécie de faz-tudo do governo
municipal; e três anos antes, para o assombro praguejante e desgosto explícito do
Bayard Velho, tornara-se vice-presidente do banco Sartoris, no qual um parente
dele trabalhava já como guarda-livros.
Ele continuava sendo dono do restaurante e do barracão de lona nos fundos,
no qual ele, a mulher e o bebê haviam morado nos primeiros meses depois que
chegaram à cidade; e agora servia de refúgio inicial para os Snopes recém-
chegados, a partir do qual iriam se difundir por negócios de terceira categoria de
vários tipos — armazéns, barbearias (e havia um deles, uma espécie de inválido,
que sobrevivia com uma barraca de amendoim torrado) –, nos quais iriam se
multiplicar e florescer. Os residentes mais antigos, em suas casas do tempo de
Jefferson e lojas e escritórios elegantes, no início acharam graça em tudo isso,
mas logo tal sentimento se transformou em uma espécie de consternação.
O Snopes a que se referia tia Sally chamava-se Montgomery Ward. Em 1917,
pouco antes de ser aprovada a lei de convocação, ele se apresentou a um posto
de recrutamento em Memphis e foi recusado para o serviço militar devido ao seu
coração. Depois, para surpresa de todos, sobretudo dos amigos de Horace
Benbow, ele deixou a cidade para assumir, com Horace, um posto na A.C.M.
Mais tarde ainda, contava-se que, naquele dia em que saíra para se alistar,
percorreu todo o caminho até Memphis com um naco de fumo de mascar sob a
axila esquerda. Mas ele e seu patrono já haviam partido quando circulou essa
história.
“E você trouxe de volta o seu Snopes?”, perguntou a tia Sally.
“Não”, replicou, e seu rosto fino e nervoso turvou-se com uma repugnância
fria e requintada. “Fiquei muito decepcionado com ele. E não tenho o menor
interesse em falar disso.”
“Qualquer um poderia ter-lhe dito quando você foi embora.”
Debruçada sobre o prato, a tia Sally mastigava de modo lento e deliberado.
Horace ficou cismando por um tempo; sua mão esguia contraiu-se lentamente
sobre o garfo.
“É gente desse tipo, parasitas...”, começou, mas foi interrompido pela irmã.
“Quem se importa com esses Snopes? Além disso, é muito tarde para se falar
sobre os horrores da guerra.”
A tia Sally emitiu um som úmido através de sua comida, um som de
superioridade comprovada.
“São esses generais de hoje”, disse ela. “O general Johnston ou o general
Forrest jamais teriam aceitado um Snopes em suas tropas.”
A tia Sally não tinha nenhum vínculo de parentesco com os Benbow.
Morava numa casa vizinha com duas irmãs solteironas, uma mais jovem e a
outra mais velha do que ela. Frequentava a casa deles desde que conseguiam se
lembrar e acabou se atribuindo alguns direitos sobre a vida deles antes mesmo de
terem começado a andar; privilégios nunca expressos com clareza e jamais
reivindicados, mas a aceitação implícita de sua existência também nunca
permitiu que caíssem no esquecimento. Entrava em qualquer aposento da casa
sem se anunciar e apreciava discorrer tediosa e constrangedoramente sobre as
moléstias infantis de Horace e Narcissa. Comentava-se que uma vez ela havia se
engraçado para o lado de Will Benbow, embora tivesse trinta e quatro ou trinta e
cinco quando Will se casou; e ela ainda se referia a ele com uma possessividade
ligeiramente depreciativa e também se referia à mulher dele com afabilidade.
“Julia era uma garota muito meiga e boa”, costumava dizer.
Assim, quando Horace foi para a guerra, a tia Sally mudou-se para a casa a
fim de fazer companhia a Narcissa: nenhum outro arranjo jamais chegou a ser
considerado por qualquer um dos três; o fato de que Narcissa teria de conviver
com a tia Sally por um período indefinido, de um ou dois ou três anos, pareceu
tão inevitável quanto o fato de Horace ter de servir na guerra. A tia Sally tinha
uma índole boa, mas vivia muito no passado, com seu espírito resoluta e
imperturbavelmente fechado a tudo o que havia ocorrido desde 1901. Para ela, o
tempo fora embora, puxado por cavalos, e em sua obstinada e plácida vacuidade
jamais havia penetrado os guinchos dos freios dos automóveis. E ela exibia
muitas das grosserias a que os mais idosos têm direito. Adorava o som da
própria voz e não apreciava ficar sozinha em nenhum momento e, como nunca
se habituara à dentadura que comprara doze anos antes e nunca a tocava a não
ser para trocar uma vez por semana a água na qual ela repousava, ingeria
desgraciosamente alimentos pouco atraentes mas facilmente maleáveis.
Narcissa estendeu a mão por baixo da mesa e tocou de novo o joelho do
irmão. “Estou tão contente que você voltou, Horry.”
Ele a olhou de relance, e a turvação sumiu de seu rosto tão subitamente
quanto havia surgido, e o espírito dele mergulhou mais uma vez, como um
nadador em um mar calmo, na constância serena da afeição da irmã.
Horace era advogado, sobretudo devido a um senso de dever para com a
tradição familiar, e embora não tivesse nenhuma afinidade com a profissão além
de um amor pela palavra impressa e pelos lugares onde se guardavam os livros,
ele contemplava o retorno ao seu escritório mofado com um cálido sentimento
de... não entusiasmo, certamente que não, mas de profunda e constante falta de
relutância, quase prazeroso. O significado da paz. Os imutáveis dias do passado;
sem exaltação talvez, mas também sem sobressaltos.
Não se nota isso, não se sente isso a não ser de longe. Os vaga-lumes ainda
não haviam chegado, e os cedros enfileiravam-se ininterruptamente em ambos os
lados até a rua, como uma sinuosa onda de ébano com as rígidas cristas
inquebrantáveis apontando para o céu.
Através da janela, a luz incidia lá fora, além da varanda e sobre um canteiro
de canas rijas e brunidas — nelas não havia nada da fragilidade das flores; e, no
interior do aposento, a voz trêmula e monótona da tia Sally. Narcissa também
estava presente, ao lado do abajur com um livro, preenchendo a sala com sua
presença imóvel e constante como o aroma dos jasmineiros, fitando a porta pela
qual ele havia passado; Horace ficou na varanda com o cachimbo apagado,
cercado da fria adstringência dos cedros como uma outra presença. “O
significado da paz”, repetiu para si mesmo, pronunciando cada uma das palavras
graves no interior do frio sino de silêncio a que por fim retornara, ouvindo-as
pairar e morrer aos poucos, puras como prata e cristal chocando-se de leve.
“E Belle, como anda?”, perguntou na mesma noite em que chegou.
“Eles estão bem”, respondeu a irmã. “Acabaram de comprar um carro novo.”
“Era de se prever”, assentiu Horace com alheamento. “A guerra pelo menos
serviu para isso.”
Por fim, a tia Sally havia se recolhido, marcando com pancadinhas no chão
seu vagaroso caminho até o leito. Horace esticou regaladamente suas pernas
recobertas de sarja e por um instante parou de riscar fósforos junto ao cachimbo
teimoso, e ficou sentado, contemplando a cabeça morena da irmã inclinada sobre
a revista apoiada nos joelhos, afastada dos assuntos frívolos e menores. Os
cabelos dela eram mais macios do que qualquer asa em repouso, reunidos com
reluzente aquiescência em um singelo nó na nuca.
“Belle é uma péssima correspondente”, comentou ele. “Como todas as
mulheres.”
Ela virou uma página, sem erguer os olhos.
“Você escreveu muito para ela?”
“É porque elas acham que as cartas servem apenas para ajudar a transpor os
intervalos entre as ações, como os interlúdios nas peças de Shakespeare”,
prosseguiu ele, desatento. “E você já conheceu alguma mulher que lê
Shakespeare sem pular os interlúdios? O próprio Shakespeare sabia disso, por
isso não colocava nenhuma mulher nos interlúdios. Deixava que os homens se
exaltassem com os ecos uns dos outros enquanto as damas ficavam nos
bastidores lavando a louça do jantar ou pondo as crianças para dormir.”
“Jamais conheci uma mulher que lesse Shakespeare”, corrigiu Narcissa. “Ele
fala demais.”
Horace levantou-se, aproximou-se dela e acariciou-lhe a cabeça morena.
“Ó profundeza”, disse, “você reduziu toda a sabedoria a uma frase e mediu o
seu sexo pela estatura de uma estrela.”
“Bem, a verdade é que não leem”, repetiu ela, erguendo o rosto.
“Não? E por que não?” Ele riscou outro fósforo e o aproximou do cachimbo,
observando-a por sobre suas mãos em concha com seriedade e atenção
aprumada, como uma ave prestes a desferir um golpe.
“Seus Arlen e seus Sabatini falam muito, e ninguém jamais teve tanto a dizer
e tanta dificuldade para fazê-lo quanto o velho Dreiser.”
“Mas eles sabem guardar segredos”, explicou ela. “Shakespeare não tem
nenhum segredo. Ele conta tudo.”
“Sei. Shakespeare não tinha nenhum senso de discriminação e de reticência.
Em outros termos, não era um cavalheiro”, sugeriu ele.
“É, é isso o que quero dizer.”
“Então, para ser um cavalheiro, é preciso guardar segredos.”
“Ó, você me deixa esgotada.” Voltou à revista e ele sentou-se ao lado no
sofá, tomou-lhe a mão e a levou até o seu rosto e depois aos seus cabelos
revoltos.
“É como passear por um jardim ao crepúsculo”, disse ele. “As flores que
conhecemos estão todas lá, com suas camisolas e seus cabelos penteados para a
noite, mas todas são nossas conhecidas. Por isso, não as incomodamos, apenas
continuamos a andar e vez por outra examinamos uma folha, uma folha que não
havíamos notado antes; talvez, sob a folha, haja uma violeta, uma campânula ou
um pirilampo; talvez só uma outra folha ou um pouco de relva. Mas sempre há
uma gota de orvalho nela.” Ele continuou a mover a mão dela sobre o próprio
rosto. Com a outra mão ela virava lentamente as páginas da revista, ouvindo-o
com terno e sereno desapego.
“Você escreveu muitas vezes para Belle?”, repetiu ela. “O que você dizia?”
“Escrevia o que ela queria ler. O que todas as mulheres querem em uma
carta. Na verdade, as pessoas têm direito à metade daquilo que acham que
deveriam ter.”
“O que você dizia a ela?”, insistiu Narcissa, folheando lentamente a revista,
sua mão passiva na dele, acompanhando-lhe o movimento de carícia.
“Contei a ela que estava infeliz. E talvez estivesse mesmo”, acrescentou. Ela
soltou a mão suavemente e a colocou sobre a página.
Então ele disse: “Eu admiro a Belle. Ela é tão astutamente burra. Cheguei a
ter medo dela. Talvez... não, não mais. Sou imune à destruição, agora tenho um
talismã. O que é um sinal de que chegou a minha hora, dizem os sábios”,
acrescentou ele. “Mas a sabedoria adquirida é algo estéril; tem um jeito de se
desfazer em pó ali onde a mera seiva estúpida e cega flui imperturbável.” Ficou
sentado sem tocá-la, em arrebatado e instantâneo repouso. “O que não é o seu
caso, ó Sereníssima”, disse ele, voltando a despertar. Em seguida, passou a
repetir “Minha querida Narcy” e voltou a tomar-lhe a mão. Ela não se esquivou;
tampouco entregou-se por completo.
“Não acho que você deva dizer que sou aborrecida tantas vezes, Horry”,
disse ela.
“Também não acho”, assentiu ele. “Mas preciso me vingar de algum modo
de tanta perfeição.”
Mais tarde ela se deitou em seu quarto escuro. No outro lado do corredor, a
tia Sally ressonava com plácida regularidade; no quarto vizinho, Horace também
estava deitado, e aquela futilidade selvagem e fantástica vagueava pelas regiões
solitárias que tão bem conhecia, bem além da lua, por campos pregados por
estrelas do firmamento à derradeira abóboda do mundo, onde os unicórnios
enchiam o ar suspirante com seus galopes, ou pastavam, ou mantinham-se eretos
num repouso de patas douradas.
Horace tinha sete anos quando ela nasceu. No fundo da sóbria primeira
infância dela destacavam-se três seres — um menino exaltado de rosto fino e
incansável aptidão para as tribulações; uma figura sombriamente galante e
romântica com guloseimas contrabandeadas, dotada de mãos fortes e duras que
sempre cheiravam a certo excitante sabão carbólico, um ser parecido com a
Onipotência mas sem o terror; e por último uma figura meiga, sem pernas ou
qualquer outro meio de locomoção, como um sacrário menor, sempre envolta em
uma aura de suave melancolia e de uma interminável e delicada manipulação de
fios de seda coloridos. Esta última figura era persistente com uma abnegação
suave e melancólica; a segunda movia-se em uma órbita que a levava, a
intervalos regulares, ao espaço exterior, e depois a trazia de volta com sua forte e
álacre virilidade ao intenso mundo que ela habitava. Mas da primeira ela se
apropriara por meio de uma perseverança contida e maternal, e por isso, na
época em que ela tinha cinco ou seis anos, as pessoas se impunham a Horace
com a ameaça de se queixarem dele a Narcissa.
Julia Benbow faleceu graciosamente quando Narcissa tinha sete anos, sendo
removida da existência deles como um pequeno sachê de lavanda retirado de
uma cômoda de roupa branca, deixando atrás de si uma delicada e evanescente
impalpabilidade, e ao longo da intensa maturidade de seus sete, oito e nove anos,
Narcissa acabou adulando e dominando as outras duas figuras. Mas aí Horace foi
estudar em Sewanee e, depois, em Oxford, de onde retornou a tempo de ver Will
Benbow juntar-se a sua esposa em meio aos cedros afilados e às pombas
esculpidas e outras serenas formas marmóreas; ainda mais tarde, Horace foi de
novo afastado dela por um contratempo estúpido dos assuntos humanos.
Mas agora estava no quarto vizinho, vagando pelas regiões seguras e
reluzentes além da lua, e ela estava em seu leito escuro, quieta, tranquila, um
pouco tranquila demais para dormir.
2.
Ele se acomodou com rapidez e facilidade à rotina de seus dias entre o
escritório e a casa. A familiaridade bolorenta e solene dos volumes encadernados
em couro e jamais violados, em cujas capas empoeiradas talvez ainda fosse
possível distinguir as impressões dos dedos mortos de Will Benbow; um pouco
de tênis à tarde, em geral na excelente quadra de Harry Mitchell; um carteado no
começo da noite, normalmente também com Belle e Harry, ou de novo e ainda
melhor, com a sempre acessível e nunca frustrante magia das páginas impressas,
enquanto a irmã sentava-se diante dele à mesa ou tocava suavemente para si
mesma na penumbra da sala no outro lado do vestíbulo. Vez por outra ela recebia
visitas masculinas; Horace sempre tratava-os com impecável cortesia e um tanto
de exasperação, e logo se despedia a fim de caminhar pelas ruas ou ler na cama.
O doutor Alford vinha cerimoniosamente uma ou duas vezes por semana, e
Horace, com o seu quê de casuísta amador, entretinha-se por uma hora e pouco
lançando dardos metafísicos adornados com plumas delicadas contra a mole
couraça científica do médico; só então reparavam que Narcissa mal pronunciara
uma palavra em sessenta, setenta ou oitenta minutos.
“É por isso que eles vêm te visitar”, comentou Horace, “para tomar um
banho de lama emocional.”
A tia Sally havia retornado para a sua casa, levando a sacola de retalhos
coloridos e a dentadura, e deixando atrás a perene intangibilidade de uma
obrigação nebulosa mas definida, cumprida a custo de sacrifício pessoal, e um
leve odor de carne feminina vetusta que se dissipava lentamente nos aposentos,
mas continuava a pairar em locais inesperados, de tal modo que, por vezes,
Narcissa, desperta mas ainda deitada na escuridão, imaginava ainda ouvir, no
escuro e imenso silêncio da casa, a tia Sally ressonando plácida e polidamente.
Havia ocasiões em que o odor era tão nítido que ela parava por um instante e
pronunciava o nome da tia Sally, voltada para um aposento vazio. E por vezes a
tia Sally respondia, tendo lançado mão de sua prerrogativa de voltar, a qualquer
hora que lhe desse na telha, sem avisar, para ver como estavam se virando e se
lamuriar de sua própria casa. Ela estava velha, velha demais para reagir com
facilidade às mudanças, e era difícil se reacostumar após a longa temporada em
uma casa na qual todos lhe faziam as vontades no que se referia às questões
domésticas. Já em sua casa, a irmã mais velha encarregava-se de tudo com sua
maneira competente de solteirona; e ela e a outra irmã persistiam em tratar a tia
Sally como a criança que fora sessenta e cinco anos antes, cuja dieta, vestuário e
horários careciam de ser supervisionados com rigor e mesquinharia.
“Não consigo nem mesmo ir ao banheiro em paz”, queixou-se lamurienta.
“Olha que de repente junto meus trapos e me mudo para cá, e aí quero ver como
elas se viram.” Ela se balançou agitadamente na cadeira que, por entendimento
tácito, nunca lhe fora contestada, examinando o aposento em torno com um olhar
úmido e desaprovador.
“Aquela negra não está limpando nada, desde que parti. Olha os móveis... era
só passar um pano úmido...”
“Seria tão bom se a senhora a aceitasse de volta”, comentou a irmã mais
velha, Sofia, para Narcissa. “Ela ficou tão melindrosa desde que morou com
você que não dá mais para conviver com ela. O que é isso que o Horace está
fazendo agora... objetos de vidro?”
Os cadinhos e as retortas haviam chegado intactos. No começo, ele insistira
em usar o porão, tirando de lá o cortador de grama, os utensílios de jardinagem e
toda a tralha que lá se acumulara, emparedando em seguida as janelas, de modo
a criar ali uma masmorra.
Mas Narcissa finalmente o convencera a usar o quarto sobre a garagem, e ali
ele instalou seu forno e ateara fogo ao local uma vez e acumulara quatro
fracassos até produzir um vaso quase perfeito de âmbar translúcido, maior, mais
magnífico e castamente sereno, que sempre mantinha sobre o criado-mudo e ao
qual chamava pelo nome da irmã, nos intervalos de se dirigir a ambos
imparcialmente em seus momentos rapsódicos sobre o significado da paz e sua
imaculada consecução, como em “Ó Tu, noiva ainda virginal da quietude”.
De cabeça descoberta, vestindo calças de flanela e paletó azul com o
emblema do seu clube de Oxford bordado no bolso, a raquete sob o braço,
Horace entrou pelo caminho ao lado da casa, até divisar a quadra de tênis, com
seus dois ocupantes em fluida e violenta atividade. Sob uma arcada de colunas
brancas com traves cobertas de vinhas, Belle, circundada pelo frágeis e
harmoniosos acessórios em voga, mais parecia uma borboleta. Duas mulheres
estavam sentadas ao lado dela, destacando-se nitidamente das folhas escuras de
uma extremosa ainda em botão. A outra mulher (o terceiro membro do grupo era
uma menina de branco, com uma franja castanho-escura e uma raquete de tênis
sobre os joelhos) dirigiu-lhe a palavra, e Belle o cumprimentou com uma espécie
de desolação lânguida e possessiva. A mão dela era quente e ávida, como
mercúrio em sua palma, explorando suavemente, com ossos delicados e carne
petulante e perfumada. Os olhos dela eram como uvas de estufa, e de seus lábios,
vermelhos e inquietos, transbordava descontentamento.
Ela havia perdido Meloney, contou.
“Meloney não se deixou iludir por seu refinamento”, disse Horace.
“Provavelmente você se tornou descuidada. A sua elegância é muito inferior
à de Meloney. Certamente você não esperava enganar para sempre alguém capaz
de conferir uma rigidez tão desconfortável à função de comer e beber quanto
Meloney, ou esperava? Ou ela arrumou outro casamento?”
“Ela abriu um negócio”, respondeu Belle com irritação. “Um salão de beleza.
Não consigo entender por que ela faria isso. Dá para imaginar as mulheres de
Jefferson indo a um salão de beleza, além de nós três? A senhora Marder e eu
poderíamos ir; e com certeza precisamos disso, mas de que serve isso para
Frankie?”
“O que mais me intriga”, disse a outra mulher, “é onde ela conseguiu o
dinheiro. As pessoas acharam que talvez você tivesse lhe dado o dinheiro,
Belle.”
“Desde quando virei benfeitora pública?”, disse Belle com frieza.
Horace sorriu ligeiramente.
“Ora, Belle, todas nós sabemos como você é boa; não seja modesta”, disse a
senhora Marder.
“Não sou benfeitora pública”, repetiu Belle. Horace disse rapidamente:
“Bem, Harry não pensaria duas vezes antes de trocar uma empregada
doméstica por uma cabeça de gado. Pelo menos, ele vai evitar muitos rombos em
sua adega, pois não vai precisar mais neutralizar os efeitos de seu chá em não sei
quantas barrigas masculinas”, acrescentando: “Suponho que não vamos ter mais
chá aqui fora, não é?”
“Deixe de bobagem”, disse Belle.
“Já estou achando que não é pelo tênis que venho aqui, mas pela incalculável
quantidade de desconfortável superioridade que sempre sinto quando Meloney
serve o chá... Vi a sua filha ao chegar”, disse Horace.
“Deve estar por aí, acho”, disse Belle com indiferença. “Você ainda não foi
cortar o cabelo”, afirmou ela. “Por que os homens são tão ineptos quando têm de
ir ao barbeiro?”, indagou ela em linhas gerais.
A mulher mais velha fitou Belle e Horace atenta e friamente, acima de suas
papadas flácidas. A jovem continuava quieta em seu vestido branco simples e
virginal, a raquete no colo e sobre ela uma das mãos bronzeadas apoiada como
um bichinho de estimação moreno e adormecido. Observava Horace com
empenhado interesse, mas sem ser rude, como fazem as crianças. “Ou não se dão
ao trabalho de ir ao barbeiro, ou insistem em empastar a cabeça com brilhantina
e outras coisas”, acrescentou Belle.
“Horace é um poeta”, disse a outra mulher, cuja pele dos maxilares pendia
frouxamente como um veludo opulento e ligeiramente sujo; os olhos mais
pareciam os de um peru velho, predatórios, sem piscar, um tanto obscenos. “É
preciso desculpar os poetas pelo que fazem. Nunca se esqueça disso, Belle.”
Horace fez uma leve mesura na direção dela. “O seu sexo jamais falha em
questões de tato, Belle”, disse ele. “A senhora Marders é uma das poucas pessoas
que conheço que dá o devido valor à profissão jurídica.”
“É como qualquer outro negócio, suponho”, disse Belle. “Você está atrasado
hoje. Por que Narcissa não veio?”
“Quero dizer, ao me chamar de poeta”, explicou Horace. “A lei, tal como a
poesia, é o derradeiro refúgio do aleijado, do coxo, do imbecil e do cego. Diria
até que César inventou a jurisprudência para se proteger dos poetas.”
“Você é tão esperto, Horace”, comentou Belle.
De repente a menina falou: “Por que se incomoda com o que os homens
passam no cabelo, senhorita Belle? O senhor Mitchell nem tem cabelo.”
A outra mulher riu melifluamente, sem parar, contemplando-os com seus
olhos sem pálpebras e sérios. Ela fitou Belle e Horace e continuou a rir, com
vivacidade e frieza. “O que sai da boca das crianças...”, comentou. A menina
relanceou de um para o outro seus olhos sérios e límpidos. Aí se levantou.
“Vou ver se consigo jogar um pouco agora”, disse.
Horace também se mexeu. “E se você e eu...”, começou. Sem virar a cabeça
Belle o tocou com a mão.
“Fique sentado, Frankie”, ordenou. “Eles nem acabaram o jogo. Você não
devia rir tanto de estômago vazio”, disse para a senhora Marders. “Vamos, sente-
se aí, Horace.”
A menina ficou em pé com uma graça esguia e desajeitada, segurando a
raquete. Olhou um instante para Belle e então volveu de novo o rosto para a
quadra. Horace sentou-se na cadeira ao lado de Belle. Dissimuladamente, a mão
dela encontrou a dele, com aquele movimento secreto, e depois tornou-se
passiva; era como se tivesse desligado uma corrente em alguma outra parte —
como alguém que adentrasse um quarto escuro atrás de algo e, depois de
encontrar o que buscava, desligasse de novo a luz.
“Você não gosta de poetas?”, falou Horace, por sobre o corpo de Belle. A
menina continuou sem voltar a cabeça.
“Eles não sabem dançar”, respondeu ela. “Mas não acho que tenha nada de
errado com eles. Também foram para a guerra, os bons foram. Havia um que era
ótimo jogador de tênis e acabou morrendo. Vi a foto dele, mas não me lembro do
nome.”
“Ah, pelo amor de Deus, não comecem a falar da guerra”, disse Belle. Sua
mão se moveu na de Horace. “Tive de ouvir o Harry falando nisso durante dois
anos. Explicando por que não podia ir. Como se eu desse a mínima.”
“Ele tinha uma família para manter”, sugeriu com vivacidade a senhora
Marders. Belle reclinou-se um pouco, a cabeça apoiada no encosto da cadeira, a
mão oculta movendo-se lentamente na de Horace, explorando-a, virando-se sem
cessar, como se dotada de vontade própria, de uma curiosidade pouco calorosa.
“Alguns deles eram aviadores”, prosseguiu a menina. Estava em pé, com o
quadril pequeno e discreto recostado na mesa, a raquete presa sob o braço
enquanto folheava uma revista. Em seguida, ela a fechou e voltou a contemplar
as duas figuras magras e brincalhonas na quadra.
“Dancei uma vez com um daqueles Sartoris. Fiquei apavorada demais para
saber qual deles era. Eu não passava de um bebê na época.”
“E eles eram poetas?”, indagou Horace. “Quero dizer, aquele que voltou? Sei
que o outro era, o que morreu.”
“Bem, uma coisa que ele sabe é dirigir aquele carro dele”, respondeu ela,
ainda observando os jogadores, seu cabelo liso (foi a primeira na cidade a
encaracolar o cabelo com bobbies) nem castanho nem dourado, o nariz pequeno
perfilado, a mão morena e imóvel ainda empunhando a raquete. Belle se mexeu
e soltou a mão.
“Vão embora e joguem”, disse. “Vocês dois estão me deixando nervosa.”
Horace ergueu-se animado. “Vamos lá, Frankie. Vamos jogar em dupla
contra eles.”
Foram até a quadra, dispostos a enfrentar os dois jovens. Horace era um
jogador excepcional, brilhante mas errático. Alguém que soubesse jogar tênis e
mantivesse a cabeça fria conseguiria derrotá-lo simplesmente deixando que ele
mesmo se derrotasse. Mas não aqueles dois. Sua parceira excedia-se com
frequência, mas Horace conseguiu recuperar o ponto com lançamentos e
estratégias tão ousadas que obscureciam a precariedade de suas táticas.
Assim que Horace fez o derradeiro ponto, Harry Mitchell apareceu, em uma
calça de flanela apertada, camisa branca de seda, e novos e ornados sapatos
esportivos que lhe haviam custado vinte dólares.
Com uma raquete nova em seu estojo e prensa especiais, ele estacou com
suas pernas curtas, cabeça pontuda e careca, maxilar prognata e dentes
estragados, ali ao lado da postura estudada da esposa. Logo mais, assim que
tivesse se desincumbido da obrigação de tomar uma xícara de chá, convocaria
todos os homens presentes e os conduziria através da casa até seu banheiro, onde
lhes ofereceria uísque, enchendo um copo adicional e levando-o para Rachel, na
cozinha nos fundos.
Ele era capaz de dar a camisa que estava vestindo para alguém em
necessidade. Vivia de especular com algodão e era bom nisso; era feio como o
diabo, tinha bom coração, era dogmático e falador e chamava Belle de
“mãezinha” até ela o convencer a deixar de falar assim.
Horace e sua parceira deixaram juntos a quadra e aproximaram-se do grupo.
A senhora Marders agora estava sentada com suas papadas flácidas sobre
uma xícara de chá.
A garota virou-se para ele com polida determinação. “Obrigada por jogar
comigo”, disse. “Um dia vou jogar melhor, espero. Ganhamos”, anunciou ao
grupo.
“Você e a garota fizeram eles suarem a camisa, hein?”, comentou Harry
Mitchell, exibindo seus dentes descorados. Seu maxilar pesado e saliente
estreitou-se delicadamente, e então acabou de modo abrupto em uma
animosidade perplexa.
“Graças ao senhor Benbow”, corrigiu a garota com voz límpida.
Sentou-se na cadeira ao lado de Belle. “Não consegui impedir que viessem
para o meu lado.”
“Horace”, disse Belle, “o chá está esfriando.”
Ele fora servido pelo indivíduo que acumulava as funções de jardineiro,
cocheiro e motorista, envergando temporariamente um paletó branco e exalando
um cheiro de borracha vulcanizada e amônia.
A senhora Marders afastou a papada da xícara.
“Horace joga muito bem”, disse ela, “na verdade, bem demais. Não há
ninguém tão bom quanto ele. Você teve sorte de jogar ao lado dele, garota.”
“É verdade”, concordou a jovem. “Mas acho que agora ele não vai mais
querer jogar comigo.”
“Bobagem”, retrucou a senhora Marders. “Horace gostou muito de jogar com
você, uma menina tão jovem e animada. Você também não acha, Belle?”
Belle permaneceu calada. Estava servindo o chá de Horace, e nesse momento
sua filha cruzou o gramado em um vestido cor de açafrão.
Os olhos dela eram como estrelas, mais suaves e deliquescentes que os de
qualquer cervo, e lançou a Horace um rápido olhar brilhante.
“Tudo bem, Titania?”, perguntou ele.
Belle volveu um pouco a cabeça, com a chaleira imobilizada sobre a xícara,
e Harry então colocou a sua na mesa, foi até a menina e persignou-se diante dela,
apoiado em um joelho, como se estivesse brincando com um cãozinho de
estimação. A criança aproximou-se, ainda contemplando Horace com uma
timidez radiante e terna, e permitiu que o pai a abraçasse e a acariciasse com
suas mãos pequenas e pesadas.
“Queridinha do papai”, murmurou Harry. Ela tolerou que seu empertigado
vestidinho fosse amassado, com evidente prazer mas um tanto inquieta. Seus
olhos se desviaram, de novo brilhantes.
“Não amasse o vestido, menina”, disse Belle. A criança escapuliu das mãos
de seu pai com um movimento gracioso. “O que é agora? Por que não está
brincando?”
“Não é nada. Queria voltar para casa.” Ela se aproximou e permaneceu
timidamente ao lado da mãe.
“Então cumprimente todo mundo”, disse Belle. “Você já não sabe que não se
fica calado quando se chega a um grupo de gente mais velha?” A menina a
obedeceu, tímida e impecavelmente, cumprimentando-os um a um, e sua mãe
virou-se e acariciou-lhe os cabelos lisos e macios. “Agora vá brincar. Por que
sempre vem para cá onde estão os adultos? Não tem nada aqui de interessante
para você.”
“Ah, deixa ela ficar aqui, mãe”, disse Harry. “Ela quer ver o papai e o Horace
jogarem tênis.”
“Vá, vá brincar”, repetiu Belle, com um tapinha de despedida. “E cuidado
para não sujar o vestido.”
“Sim senhora”, assentiu a menina, e virou-se obediente, lançando a Horace
outro rápido olhar brilhante. Ele viu a menina se afastar e Rachel abrir a porta da
cozinha e dirigir-lhe a palavra quando ela passou, então ela se virou e subiu os
degraus da cozinha.
“Que criança bem-educada”, comentou a senhora Marders.
“É tão difícil fazer algo com elas”, disse Belle. “Ela puxou um pouco o pai.
Beba o chá, Harry.”
Harry pegou a xícara na mesa e sorveu o líquido morno ruidosa e
obedientemente. “E aí, rapaz, que tal uma partida? Esses molengas acham que
podem nos vencer.”
“Frankie quer jogar de novo”, atalhou Belle. “Deixe a menina aproveitar um
pouco mais a quadra, Harry.” Este estava ocupado tirando a raquete do estojo.
Então fez uma pausa e ergueu o descomposto rosto prógnata e os olhos bondosos
e opacos.
“Não, não”, protestou de imediato a jovem. “Já joguei bastante. Agora quero
só olhar um pouco.”
“Deixe de bobagem”, retrucou Belle. “Eles podem jogar a qualquer hora.
Faça com que a deixem jogar, Harry.”
“Claro que a menina pode jogar”, disse Harry. “Pode ir; jogue quanto
quiser.” Ele se inclinou outra vez e recolocou a raquete no rebuscado estojo,
apertando parafusos aqui e ali; suas costas estavam curvadas, com o
ressentimento de um menino.
“Por favor, senhor Mitchell”, disse a jovem.
“Vá, pode ir”, repetiu ele. “Ei, seus cabeças-ocas, que tal uma partida com a
mocinha?”
“Não se preocupe com ele”, disse Belle à jovem. “Ele e Horace podem jogar
outra hora. Ele vai ter de compor a outra dupla, de qualquer modo.”
Os dois jogadores estavam de prontidão, aguardando polidamente.
“Claro, senhor Harry, vamos lá. Eu e o Frankie podemos jogar contra o
senhor e o Joe.”
“Podem ir em frente e jogar uma partida”, repetiu Harry. “Tenho um assunto
para tratar com o Horace. Joguem vocês.” Ele não fez caso de seus educados
protestos, e eles foram para a quadra. Em seguida, fez com a cabeça um aceno
significativo a Horace.
“Vá com ele”, disse Belle. “O bebê!” Sem volver-lhe o olhar e sem o tocar,
ela o envolveu em uma rica e implícita promessa. Com a xícara de chá na mão, a
senhora Marders permanecia sentada no outro lado da mesa, curiosa, atenta e
fria. “A menos que queira jogar de novo com aquela tolinha.”
“Tolinha?”, repetiu Horace. “Ela é ainda jovem demais para ser
inconscientemente tola.”
“Pode ir”, disse-lhe Belle, “e volte logo. A senhora Marders e eu já estamos
cansadas uma da outra.”
Horace acompanhou o anfitrião casa adentro, seguindo-lhe os passinhos
bamboleantes e a calva indômita. Ao passarem pela cozinha, ouviram a voz
firme da pequena Belle, relatando algum assombro da jornada, entremeada por
ocasionais interjeições langorosas de Rachel. No banheiro, Harry tirou uma
garrafa de um armário, enquanto, precedida pela escalada de passos pesados e
laboriosos, Rachel entrou sem bater, com um jarro de água gelada.
“Por que não vão lá e jogam, se tão com vontade?”, perguntou ela. “Por que
deixa essa mulher tratar assim vassuncê e aquela criança?”, ela cobrou Harry.
“Vassuncê devia é dar uma lição nela com um pedaço de pau. Bagunçando a
minha cozinha às quatro da tarde. E o nhôzim não tá ajudando em nada
também”, disse agora para Horace.
“Bota aí um dedo pra mim, nhô Harry, por favor.”
Estendeu o copo e Harry o encheu, e ela saiu pesadamente do aposento.
Então eles a ouviram descer a escada, lenta e pesadona com seus pés chatos.
“Belle não conseguiria se virar sem Rachel”, comentou Harry. Enxaguou dois
copos com a água gelada e os colocou na pia. “Ela fala demais, como todos os
negros.” Serviu a bebida nos copos e pôs de lado a garrafa. “Ouvindo ela falar a
gente pensaria que Belle é uma espécie de besta selvagem. Um maldito tigre ou
algo assim. Mas Belle e eu nos entendemos. Seja como for, a gente tem de dar
um desconto para as mulheres. Diferentes dos homens. Do contra desde que
nascem; reclamam quando a gente não faz o que querem, e também quando a
gente faz.” Colocou um pouco mais de água em seu copo; em seguida disse, com
assombrosa irrelevância: “Eu mataria o homem que tentasse destruir o meu lar,
tal como faria com uma maldita serpente. Bem, vamos beber, rapaz.”
Pouco depois ele encheu de água o copo vazio e bebeu tudo de uma vez, e
retomou sua lamúria anterior.
“Não posso jogar nem na porcaria da minha quadra”, disse ele.
“Belle convida toda essa maldita gente aqui todo dia. Tudo o que quero é
uma quadra na qual eu possa jogar um pouco à tarde, quando chego do trabalho.
Um aperitivo antes do jantar. Mas toda porcaria de dia chego em casa e encontro
um monte de moçoilas e babacas, usando-a como se fosse uma quadra pública
em um maldito parque.”
Horace tomava a sua bebida com mais moderação. Harry acendeu um cigarro
e jogou o fósforo no chão e estendeu a perna sobre o vaso sanitário. “Vou acabar
tendo de construir outra quadra só para mim, e colocar uma cerca de arame
farpado, com uma fechadura Yale na porta, de modo que Belle não possa fazer
piqueniques ali. Há muito espaço lá embaixo junto à cerca da quadra. Também
não há árvores por lá. É só colocá-la num lugar sem sombra, e acho que Belle
vai me deixar usá-la de vez em quando. Bem, é melhor a gente voltar para lá.”
Ele saiu na frente, atravessando o quarto de dormir, e parou para mostrar a
Horace uma nova espingarda de repetição que acabara de comprar e para
oferecer-lhe com insistência um maço de cigarros que havia importado da
América do Sul, e então eles desceram e saíram na tarde que caía. Os raios de sol
agora incidiam oblíquos pela quadra, onde os três jogadores saltavam e corriam
com ruídos rápidos e abafados das solas de borracha, acompanhando o impacto
fugaz da bola. A senhora Marders continuava sentada com suas papadas
intermináveis, embora estivesse falando de ir embora quando se aproximaram.
Belle volveu a cabeça para o encosto, mas Harry empurrou Horace para a
frente.
“Vamos ver um lugar para fazer outra quadra de tênis. Acho que agora vou
me dedicar ao tênis”, comentou ele com pesada ironia para a senhora Marders.
Quando retornaram mais tarde, a senhora Marders havia ido embora e Belle
estava sozinha, com uma revista. Um rapaz em um Ford viera buscar a jovem
Frankie, mas outro rapaz chegara, e quando Horace e Harry surgiram, os três
jovens suplicaram educadamente que Harry se juntasse a eles.
“Joguem com o Horace”, disse Harry, obviamente satisfeito. “Ele vai lhes
dar uma boa lição.” Mas Horace resistiu e os três continuaram a importunar
Harry.
“Deixe-me então pegar minha raquete”, disse ele afinal, e Horace
acompanhou o bamboleio pesado das costas do outro através da quadra.
Belle ergueu brevemente os olhos.
“Encontrou um lugar?”
“Encontrei”, respondeu Harry, desembalando de novo a raquete.
“Ali vou poder jogar de vez em quando. Um lugar bem longe da rua, para
que ninguém que esteja passando resolva parar e entrar.”
Mas Belle voltara a ler. Harry desatarraxou a prensa da raquete e a removeu.
“Vou jogar só um pouco; aí você e eu podemos jogar uma rápida antes de
escurecer”, disse ele para Horace.
“Está bem”, assentiu Horace. Então sentou-se e observou Harry caminhar
pesadamente até a quadra e assumir sua posição, e também o primeiro saque. Em
seguida, a revista de Belle farfalhou e desabou sobre a mesa.
“Vamos”, disse Belle, levantando-se. Horace ergueu-se e ambos cruzaram o
gramado e entraram na casa. Rachel circulava pela cozinha, e continuaram
atravessando a casa até que os barulhos foram se atenuando e os móveis
reluziam pacífica e indistintamente na luz cadente do crepúsculo. Belle
escorregou a mão na mão dele, apertando-a contra a sua coxa sedosa, e o
conduziu através de uma passagem penumbrosa até a saleta de música. O
aposento também estava vazio e tranquilo, e ela parou na frente dele, virando-se
ligeramente, e eles se beijaram. Logo depois ela afastou os lábios e voltou a se
mover, e ele puxou o banco do piano e ali sentaram-se em lados opostos e
voltaram a se beijar. “Faz muito tempo que você não diz que me ama”, disse
Belle, tocando-lhe o rosto com a ponta dos dedos, e o seu cabelo macio em
desalinho, “muito tempo.”
“Desde ontem, pelo menos”, concordou Horace, e disse que a amava,
enquanto ela se inclinava para ele e o ouvia com uma espécie de desatenção
absorta e voluptuosa, como uma gata enorme e imóvel; quando ele terminou e
ficou acariciando-lhe o rosto e os cabelos com suas mãos delicadas e atrevidas,
ela afastou, abriu o piano e dedilhou as teclas. Tocou de memória melodias
melosas, em voga na época e comuns em qualquer teatro de vaudevile, com
escasso virtuosismo e uma predileção por nuances adocicadas. Ficaram assim
por algum tempo enquanto caía a noite, Belle em outro vácuo temporário de
descontentamento, erguendo para si um mundo no qual se movia
romanticamente, requintadamente e um pouco tragicamente, com Horace
sentado ao lado e observando tanto Belle no papel trágico que se impusera como
a si próprio desempenhando o papel de um velho ator cujos cabelos estão
escasseando e cujo perfil se dissolve na papada, mas capaz de atuar à menor
deixa em qualquer momento, enquanto os mais jovens roem as unhas com
amargor nos bastidores.
Logo depois, as rápidas e pesadas concussões dos pés de Harry soaram de
novo ao subirem a escada, assim como o agreste tumulto sem palavras de sua
voz, enquanto conduzia alguém pela passagem dos fundos até o banheiro. Belle
imobilizou suas mãos, inclinou-se e o beijou de novo, longamente. “Não dá para
suportar”, disse afinal, afastando os lábios com um movimento da cabeça. Por
um instante ela resistiu ao braço dele, enquanto suas mãos tombavam
desafinadamente sobre as teclas e deslizavam pelo cabelo de Horace e até o seu
queixo. Afastou de novo a boca. “Agora sente-se para lá.”
Ele obedeceu; no banco do piano, metade dela estava na penumbra.
O crepúsculo quase terminava; apenas se via o perfil de sua cabeça inclinada
e suas costas, trágicas e imóveis, fazendo com que ele se sentisse jovem de novo.
Há horas em que damos voltas sobre nós mesmos, como velhinhas desconfiadas
espiando as criadas, pensou Horace. Não, como meninos tentando conduzir uma
parada. “Sempre há o divórcio”, disse afinal.
“Para casar outra vez?” As mãos dela vagaram pelo teclado em acordes que
se fundiram e se dissiparam de novo em tom menor, dedilhados com uma das
mãos. No andar de cima, Harry movia-se com passos pesados e cadenciados,
sacudindo a casa. “Você daria um péssimo marido.”
“Não se eu não me casar”, respondeu Horace.
Então ela disse “Venha cá” e ele a atendeu, e no lusco-fusco ela surgiu de
novo trágica, jovem e acossada pela sensação de perda, e ele se deu conta da
triste fecundidade do mundo e do realismo esperançoso do tempo que engana a
si mesmo. “Quero um filho teu, Horace”, disse ela, e então a sua própria filha
cruzou o vestíbulo e parou timidamente à porta.
Por um instante, Belle tornou-se um animal desajeitado e descomposto pelo
medo. Afastou-se de um salto para longe dele em furioso movimento de
rejeição; suas mãos tombaram sobre as teclas enquanto continha um instintivo e
brusco movimento de fuga que deixou no crepúsculo um antagonismo cego e
defensivo, que se expandia em constantes ondas cumulativas, alcançando
também Horace.
“Entre, Titania”, disse ele.
A menininha permaneceu imóvel, timidamente, na contraluz.
A voz de Belle destacou-se com nitidez. “O que você quer? Sente-se ali”,
sibilou para Horace. “O que você quer, Belle?” Horace afastou-se um pouco,
mas sem se levantar.
“Tenho uma nova história para contar, logo mais”, disse ele. Mas a pequena
Belle continuou parada, como se não tivesse escutado, e aí sua mãe disse: “Saia
e vá brincar, Belle. Por que voltou para casa? Ainda não é hora do jantar.”
“Todo mundo já foi embora”, respondeu ela. “Não tem mais ninguém para
brincar.”
“Então vá para a cozinha e converse com a Rachel”, disse Belle. Ela golpeou
de novo as teclas, com estridência. “Você me mata de preocupação, rondando a
casa desse jeito.” A menina ficou por ali mais um instante; em seguida voltou-se
docilmente e foi embora. “Sente-se ali”, repetiu Belle. Horace retomou seu lugar
e Belle voltou a tocar, alto e velozmente, com fria e histérica habilidade. No
andar de cima, Harry pisoteou de novo o chão; em seguida, desceram pela
escada. Harry ainda falava; as vozes continuaram até os fundos e depois
cessaram. Belle continuou a tocar; ainda em torno dele, no quarto cada vez mais
escuro, aquele cego e defensivo antagonismo, como um músculo que permanece
contraído mesmo após a extinção do impulso de temor. Sem volver a cabeça, ela
disse: “Você fica para o jantar?”
Não, não ficaria, respondeu ele, despertando de repente. Ela não se levantou
quando ele o fez, nem volveu a cabeça, e ele partiu desacompanhado pela porta
da frente, saindo para o crepúsculo do final de primavera, onde já se distinguia
uma débil estrela sobre as árvores imóveis. No caminho de entrada, diante da
garagem, estava o carro novo de Harry. Nesse momento ele estava verificando
algo no motor, enquanto o mordomo-jardineiro-cocheiro segurava uma lâmpada
de emergência acima do reluzente oval de sua cabeça, enquanto a filha dele,
juntamente com Rachel, inclinavam com interesse seus rostos dissimilares mais
além das costas dobradas dele, sob o brilho suave e azulado da lâmpada. Horace
tomou o caminho de casa. O crepúsculo chegou ao fim e a noite caiu depressa.
Antes que chegasse à esquina na qual iria virar, as lâmpadas da rua estralejaram,
piscaram e então voltaram a brilhar nos cruzamentos, sob os arcos das árvores.
3.
Era a tarde do recital da pequena Belle, o ponto culminante de seu ano
musical. Durante toda a noite, Belle não olhou sequer uma vez para ele, nem lhe
dirigiu a palavra, mesmo quando à porta, no tumulto da partida, enquanto Harry
tentava convencê-lo a subir para um derradeiro trago, ele a sentiu a seu lado por
um momento e impregnou-se de seu perfume intenso. Mesmo então, porém, ela
não lhe dirigiu a palavra, e quando afinal conseguiu se livrar de Harry, e a porta
se fechou atrás de sua calva reluzente e da pequena Belle, Horace voltou-se na
escuridão e viu que Narcissa não o havia esperado e já estava no meio do
caminho até a rua.
“Se você estiver indo para o meu lado, podemos ir juntos”, gritou para a
irmã. Ela não respondeu, tampouco diminuiu ou aumentou o passo quando ele a
alcançou.
“Por que será”, começou ele, “que os adultos se empenham tanto em que as
crianças façam coisas ridículas? Você tem ideia? Belle estava com a casa cheia
de gente pela qual não tem o menor interesse, gente que em sua maioria não a vê
com bons olhos, e manteve a pequena Belle acordada por três horas além de seu
horário de dormir; e o resultado é que Harry já está ficando bêbado, Belle está
em péssimo humor, a menina está excitada demais para dormir, você e eu
gostaríamos de estar em casa e agora estamos chateados por não termos ficado
lá.”
“Por que você veio, então?”, perguntou Narcissa. De repente Horace ficou
em silêncio. Continuaram a caminhar pela escuridão, na direção do poste de luz
seguinte. Destacando-se, as frondes pendiam como coral negro em um mar
amarelado.
“Ó”, exclamou Horace, e depois, “vi aquela velha gata conversando com
você.”
“Por que você chama a senhora Marders de velha gata? Porque ela disse algo
que me concerne e que parece ser do conhecimento de todo mundo?”
“Então foi ela quem lhe contou, é isso? Bem que fiquei curioso...”
Então deslizou o braço por entre o braço inerte dela. “Minha querida Narcy.”
Atravessaram as sombras matizadas sob a lâmpada e voltaram a andar na
escuridão.
“E é verdade?”, perguntou ela.
“Não se esqueça de que a mentira faz parte da luta pela sobrevivência, disse
ele, “o recurso do homem, em sua insignificância, de ajeitar as circunstâncias
para que se adequem ao conceito que faz de si como alguém no mundo. Uma
vingança contra os deuses sinistros.”
“É verdade?”, persistiu ela. Continuaram andando, de braços dados, ela
gravemente insistente em sua expectativa, ele formando e descartando frases em
sua mente, encontrando tempo para ficar intrigado com sua própria e tremenda
impotência diante da constância dela.
“As pessoas normalmente não mentem a respeito daquilo que não lhes
concerne”, respondeu ele penosamente. “Elas são impermeáveis ao mundo,
mesmo que não o sejam à vida. Sobretudo quando a atualidade é tão mais
divertida do que consegue ser a imaginação delas”, acrescentou. Ela soltou o
braço com um gesto grave e resoluto.
“Narcy...”
“Não”, disse ela. “Não me chame assim.” A próxima esquina, no poste de
iluminação seguinte, era onde iriam virar. Acima do desfiladeiro abobadado da
rua os deuses sinistros contemplavam de cima, com olhos límpidos e sem
pestanejar. Horace enfiou as mãos no bolso do paletó e voltou a ficar calado,
enquanto os dedos tateavam o estranho objeto que haviam achado no bolso. Em
seguida ele o tirou: uma folha de papel grossa, dobrada duas vezes e exalando
um perfume intenso e evanescente. Um perfume familiar, ainda que
desconcertante por um momento, como um rosto a fitá-lo desde uma tapeçaria.
Sabia que o rosto estava prestes a emergir, mas enquanto mantinha o bilhete
entre os dedos e buscava o rosto pelos corredores de seu devaneio, ouviu ao lado
a voz dura de sua irmã.
“Você está todo impregnado do cheiro dela. Ó, Horry, ela é imunda!”
“Eu sei”, disse ele, infeliz. “Eu sei.”
O mês de junho ia avançado e o aroma do jasmineiro transplantado da
senhorita Jenny pairava constantemente pela casa e a preenchia em constantes
ondas cumulativas, como uma ressonância de viola evanescente. As primeiras
flores haviam desaparecido, os pássaros haviam acabado de comer os morangos
e agora ficavam pousados o dia todo nos ramos das figueiras, esperando que
amadurecessem; a zínia e o delfínio floresciam sem qualquer ajuda de Isom, que,
desde que Caspey havia mais ou menos recobrado seu comportamento normal e
ainda faltava muito para a época de plantio, podia ser encontrado sob a sombra
dos alfeneiros ao longo da cerca do jardim, aparando as folhas uma por uma de
um galho solitário com uma tesoura de tosquiar até que a senhorita Jenny
voltasse para dentro da casa; aí ele se retirava e ia passar o resto da tarde às
margens do regato, o chapéu cobrindo o rosto e uma vara de pescar de bambu
encaixada entre os dedos do pé.
Simon vagava rabugento de um lado para o outro. Seu guarda-pó e sua
cartola acumulavam fuligem de ração e pó, pendurados de um prego na sala dos
arreios, e os cavalos ficavam cada vez mais gordos, preguiçosos e insolentes no
pasto. Agora, o guarda-pó e o chapéu somente saíam do prego, e os cavalos eram
atrelados à charrete, não mais do que uma vez por semana — aos domingos, para
levá-los à igreja, na cidade. A senhorita Jenny dizia estar velha demais para
colocar em risco sua salvação indo para a igreja a oitenta quilômetros por hora;
que carregava tantos pecados quanto permitia o seu comportamento corriqueiro,
agora que também precisava, de algum modo, cuidar para que a alma do Bayard
Velho entrasse no céu, sobretudo depois que ele e o jovem Bayard cruzavam
velozmente a região todas as tardes, com o risco iminente de quebrarem os
pescoços. Quanto à alma do jovem Bayard, não havia motivo para ela se
preocupar: ele não tinha alma.
Entretanto, ele circulava pela fazenda e atormentava os colonos negros com
seus modos altaneiros e gélidos e, trajando calças de brim de dois dólares e botas
de campanha que haviam custado catorze guinéus, entretinha-se com as
máquinas agrícolas e com o trator que convencera o Bayard Velho a comprar:
com isso tornara-se quase civilizado de novo. Agora somente ia à cidade de vez
em quando, muitas vezes a cavalo, e de maneira geral os seus dias haviam se
tornado tão proveitosamente inócuos que tanto a tia quanto o avô começavam a
ficar nervosos de antecipação.
“Ouça o que vou dizer”, disse a senhorita Jenny a Narcissa no dia em que
esta foi visitá-la de novo, “ele está acumulando maldade e uma hora ela vai
explodir de uma vez só. Aí vai ser o inferno. Só Deus sabe o que vai acontecer
— talvez ele e Isom peguem o carro e aquele trator e disputem uma corrida com
eles... Por que você veio me ver mesmo? Recebeu outra carta?”
“Não apenas uma, mas várias”, respondeu Narcissa despreocupadamente.
“Estou guardando as cartas até que tenha o suficiente para fazer um livro;
então vou trazê-las todas para a senhora ler.” A senhorita Jenny estava sentada
diante dela, ereta como uma sentinela impecável, com aquela fria brusquidão
que a caracterizava e que fazia com que mensageiros e estranhos se
atrapalhassem com premonições de fracasso antes mesmo de se lançarem em
suas incumbências. A visitante continuou sentada imóvel, o chapéu de palha
desabando molemente sobre os joelhos. “Vim apenas para ver a senhora”,
acrescentou, e por um instante seu rosto exibiu um desespero tão grave e
silencioso que a senhorita Jenny empertigou-se ainda mais e encarou a visita
com seus perspicazes olhos cinzentos.
“Ora, o que está havendo, menina? O tal fulano entrou em sua casa?”
“Não, nada disso.” Aquela expressão logo sumiu, mas a senhorita Jenny
continuou a observá-la com seus aguçados olhos idosos que pareciam ver muito
além do que se imaginava — ou se queria. “E se eu tocasse um pouco? Faz
tempo, não é?”
“Bem”, assentiu a senhorita Jenny, “se você quiser.”
Havia uma camada de pó sobre o piano. Narcissa o abriu com um gesto
elegante. “Se a senhora me disser onde tem um pano...”
“Pronto, deixa eu tirar o pó”, disse a senhorita Jenny, e levantou a barra da
saia e limpou o teclado com impaciência. “Pronto, pode tocar.”
Em seguida, puxou a cadeira que ficava atrás do instrumento e nela se
acomodou. Continuava a observar o semblante de perfil da outra, especulativa e
um pouco curiosa, mas logo as velhas melodias voltaram a despertar suas
lembranças, e pouco depois seus olhos se amaciaram, e a outra e a perturbação
que se estampara momentaneamente em seu rosto perderam-se nos dias passados
e nos mortos perenes da própria senhorita Jenny, a qual levou algum tempo antes
de notar que Narcissa estava chorando silenciosamente enquanto tocava.
Inclinando-se para a frente, a senhorita Jenny tocou-lhe o braço. “Agora você
vai me contar tudo”, ordenou. E Narcissa contou-lhe tudo com grave voz de
contralto, ainda chorando em silêncio.
“Hum”, resmungou a senhorita Jenny. “É o que se esperaria de um homem
que não tem nada mais para fazer, como o Horace. Mas não entendo por que isso
a deixou tão abalada.”
“É que aquela mulher”, Narcissa gemeu de repente, como uma menina,
enterrando o rosto entre as mãos. “Ela é tão imunda!”
A senhorita Jenny tirou do bolso da saia um lenço masculino e o passou para
a outra. “Como assim?”, perguntou. “Ela não se lava o suficiente?”
“Não nesse sentido. Quero dizer que ela... que ela...”, Narcissa virou-se de
repente e encostou a cabeça no piano.
“Ah!”, exclamou a senhorita Jenny. “Todas as mulheres são assim, se é isso
que você está dizendo.” Permaneceu tesa e indômita, contemplando os ombros
derreados da outra. “Hum”, resmungou de novo. “Horace passou tanto tempo
estudando que nunca aprendeu nada... Por que você não acabou com isso logo?
Não viu o que estava para acontecer?”
A outra chorava mais calmamente agora. Então se aprumou e secou os olhos
com o lenço oferecido pela senhorita Jenny. “Começou antes de ele partir. A
senhora não se lembra?”
“É verdade. Lembro mais ou menos de um monte de fofocas de mulheres.
Mas, de qualquer modo, quem lhe contou? Horace?”
“Foi a senhora Marders. E depois Horace confirmou. Mas nunca imaginei
que ele... nunca imaginei...” De novo sua cabeça tombou sobre o piano, oculta
sob os braços. “Eu jamais teria feito algo assim para Horace”, gemeu.
“Ah, foi a Sarah Marders, então? Eu devia ter adivinhado... Até admiro o
caráter forte dela, mesmo que seja má”, afirmou a senhorita Jenny. “Bem, ficar
chorando não vai resolver nada.” Então ergueu-se bruscamente. “Vamos ver o
que podemos fazer a respeito. Mas eu não faria nada para impedi-lo; vai lhe
fazer muito bem se ela apenas fizer gato e sapato dele... Pena que o Harry não
tenha coragem para... Mas acho que vai ficar contente; sei que eu ficaria...
Calma, calma”, disse ela, diante do gesto de alarme da outra, “não acho que
Harry vá machucá-lo. Seque as lágrimas, agora. Melhor você ir ao banheiro e dar
um jeito nesse rosto. O Bayard vai chegar logo, e você não vai querer que ele
perceba que esteve chorando, não é?” Narcissa lançou um rápido olhar na
direção da porta e limpou o rosto com o lenço da senhorita Jenny.
Então ele iria procurá-la pela casa, cruzar o caminho de entrada e descer pelo
gramado na tarde ensolarada até onde ela estava sentada, com um dos vestidos
brancos que ele tanto apreciava, debaixo do carvalho, no qual todas as tardes
vinha cantar um sabiá, a fim de mostrar a ela o resultado de sua última aventura
de vidreiro. Ele agora já fizera cinco objetos, em cores diversas e quase todos
perfeitos, e cada qual tinha o seu próprio nome. Assim que os terminava, mal
esfriados ainda, ele não se continha e os levava através do gramado até onde ela
estava sentada com um livro ou talvez com um visitante assustado… com suas
roupas manchadas e descompostas e as mãos sujas de fuligem, nas quais o vaso
jazia recatado e frágil como uma bolha, e com o rosto também enegrecido de
fumaça e um pouco desvairado, extasiado, belo e austero.
4.
Durante um tempo a terra o manteve em um hiato que poderia ser chamado
de contentamento. Despertava com os primeiros raios de sol, plantava coisas na
terra e as observava crescer e cuidava delas; amaldiçoava e atormentava negros e
mulas para que se mexessem sem parar, colocava em ordem o moinho de grãos,
ensinava Caspey a conduzir o trator, voltava para casa na hora das refeições e à
noite, exalando cheiro de óleo de máquina, de estábulo e da terra, caía na cama
com os músculos confortados e com os ritmos sóbrios da terra em seu corpo e
em seu sono. Às vezes, porém, ainda despertava na sossegada escuridão do
quarto, sem qualquer aviso prévio, tenso e suado com o velho terror. Então, por
um instante, o mundo se afastava e ele era um animal acuado nas altitudes
azuladas, louco pela vida, aprisionado na própria tessitura ardilosa que falhara
com aquele que se atrevera demais, e ocorreu-lhe de novo que, quando se é
atingido pelo projétil, restava apenas arremeter para o alto e explodir; qualquer
coisa menos a terra. Não a morte, não: era a queda que era preciso reviver tantas
vezes antes do choque contra o solo que enchia de vômito a garganta.
Mas pelo menos os seus dias estavam ocupados, e ele voltou a descobrir o
orgulho. Agora ia de carro até a cidade para buscar o avô, mas apenas por hábito,
e embora ainda considerasse setenta quilômetros por hora nada mais do que uma
velocidade de cruzeiro, não mais extraía um prazer frio e diabólico de fazer
curvas em apenas duas rodas, ou de arrancar as mulas das carroças ao raspar
com o para-choque em seus balancins. O Bayard Velho ainda insistia em
acompanhá-lo quando precisava, mas o fazia agora sem prender tanto o fôlego, e
uma vez chegou a comentar com a senhorita Jenny que estava cada vez mais
convencido de que, por fim, o jovem Bayard havia superado seu anseio pela
destruição violenta.
A senhorita Jenny, como uma verdadeira otimista — ou seja, esperando o
pior em todos os momentos e, portanto, sendo cotidiana e agradavelmente
surpreendida –, prontamente o desiludiu. Enquanto isso, ela fazia com que o
jovem Bayard bebesse muito leite e controlava de outras maneiras a dieta e as
atividades dele com seu jeito disciplinador, e às vezes entrava no quarto dele à
noite, e sentava-se por um tempo ao lado da cama em que ele dormia.
Mesmo assim, o jovem Bayard passou a se comportar melhor. Sem se dar
conta, submergira na sucessão monótona dos dias, capturado pelo ritmo de
atividades repetidas incessantemente até que os músculos ficaram tão habituados
que lhe conduziam o corpo através dos dias sem que ele tivesse nisso a menor
participação. Fora tão bem enganado pela terra, essa antiga Dalila, que nem
sequer percebeu que os cachos de seus cabelos haviam sido cortados, ou que a
senhorita Jenny e o Bayard Velho já começavam a se perguntar quanto tempo
levaria até que voltassem a crescer. “Ele precisa de uma esposa”, foi o
pensamento da senhorita Jenny, “aí talvez continue sem as melenas. Uma jovem
que se preocupe com ele”, disse a si mesma. “Bayard está crescido, e tenho mais
o que fazer do que cuidar desse diabo.”
Ele via Narcissa pela casa com alguma frequência, por vezes à mesa, e ainda
sentia o recolhimento e o enfado dela, e de quando em quando a senhorita Jenny
ficava observando os dois, com um olhar especulativo e um tanto exasperada
com a aparente indiferença que um demonstrava pelo outro. “Ele a trata como
um cão diante de um jarro de cristal lapidado, e ela olha para ele como um jarro
de cristal olharia para um cão”, disse a si mesma.
Então acabou a época da semeadura e chegou o verão, e ele se viu sem nada
para fazer. Era como sair atordoado do sono, dos vales calorosos e ensolarados
em que viviam as pessoas, e entrar numa região onde gélidos cumes de selvagem
desespero assomavam desoladamente sobre os vales perdidos, entre as estrelas
apagadas e selvagens.
A estrada descia em suave curva avermelhada por entre os pinheiros, através
dos quais sopravam os ventos calorosos de julho com um ruído demorado como
um trem passando ao longe, até um grupo de salgueiros de verde mais claro,
onde um riacho corria sob uma ponte de pedra. No começo da descida, as
raquíticas mulas com orelhas de coelho pararam, e o negro mais novo desceu,
tirou da carroça uma desgastada viga de carvalho e travou uma das rodas
traseiras, introduzindo a viga entre os raios tortos remendados com arame e ao
longo do eixo. Em seguida montou de novo na carroça decrépita, onde o outro
negro continuava sentado imóvel com as rédeas de cordas nas mãos; então a
cabeça dele apontou na direção do riacho.
“O que que é aquilo?”, disse.
“Aquilo o quê?”, perguntou o outro. Seu pai permaneceu na mesma atitude
absorta, e o jovem também se pôs a escutar. Mas não havia nenhum outro ruído
além do suspiro prolongado entre os pinheiros sóbrios e o líquido piar de uma
codorniz em algum ponto do refúgio verdejante. “O que que o sinhô ouviu,
papi?”, repetiu.
“Algo caiu lá embaixo. Uma árvore talvez.” Então sacudiu as rédeas.
“Vamo, mula.” As mulas agitaram as orelhas de lebre e puxaram a carroça, e
desceram por entre as sombras frescas e matizadas, ouvindo o arrasto rangente
da roda travada que deixava atrás de si uma brilhante faixa azulada na poeira
macia e vermelha. No pé do morro a estrada cruzava a ponte e começava a subir
de novo; o riacho se encrespava e rebrilhava com um tom pardacento entre os
salgueiros, e perto da ponte, emborcado na correnteza, jazia um carro. As rodas
dianteiras ainda estavam girando e o motor rodava em ponto morto, expelindo
um vago vapor pelo cano de escapamento. O negro mais velho levou a carroça
até a ponte e ali parou, e os dois ficaram sentados, contemplando imóveis o bojo
comprido do automóvel. De repente, o jovem falou.
“Ele tá ali! Tá na água, ali embaixo. Dá pra ver os pé saindo pra fora.”
“Vai acabar se afogando”, disse o outro, com interesse e reprovação,
enquanto desciam da carroça. O jovem então escorregou pelo barranco até o
riacho. O outro amarrou lentamente as rédeas em uma das traves que mantinham
no lugar a plataforma da carroça e empurrou seu aguilhão de nogueira
descascada para baixo da boleia, deu a volta, retirou a viga que travava a roda e a
colocou de volta na carroça. Em seguida deslizou com agilidade pelo barranco
até onde o filho, acocorado, olhava para as pernas submersas de Bayard.
“Num vai chegar perto demais dessa coisa, garoto”, ordenou. “De repente
pode explodir. Num tá ouvindo que ainda tá roncando lá na frente?”
“A gente tem que puxar ele pra fora”, retrucou o rapaz. “Vai afogar assim.”
“Num mexe nele. Os branco vão dizer que foi a gente que fez isso. Vamo
ficar esperando até aparecer um branco.”
“Ele vai morrer afogado até lá”, disse o outro, “deitado nessa água.”
O rapaz estava descalço e entrou na água e quando se aprumou ondulações
cintilantes de água pardacenta surgiram em volta de suas canelas esguias e
negras.
“Ei, John Henry!”, disse o pai. “Num chega perto desse troço.”
“A gente tem que tirá ele dali”, repetiu o rapaz e, um deles na água e o outro
na margem, passaram a discutir amigavelmente enquanto a água fazia marolas
na ponta das botas de Bayard. Então o jovem negro aproximou-se
hesitantemente e agarrou a perna de Bayard e deu-lhe um puxão. O corpo reagiu
e se mexeu, depois voltou a ficar parado; resmungando e se lamuriando, o negro
mais velho se sentou, tirou os sapatos e também entrou na água. “Ele se prendeu
de novo”, disse John Henry, agachando-se na água e enfiando os braços por
baixo do carro. “Tá preso embaixo da roda de guiar. Mas a cabeça dele não tá
debaixo d’água. Vou pegar o pau.”
Escalou o barranco, pegou a viga na carroça, voltou e juntou-se ao pai, que
estava parado, com grave e curiosa desaprovação, perto das pernas de Bayard, e
com a viga ergueu o carro o suficiente para arrastarem Bayard para fora. Então o
puxaram até o barranco e o estenderam ao sol, com seu rosto calmo e molhado,
os cabelos emaranhados e a água escorrendo das botas, e ficaram junto dele,
sustentando-se ora sobre uma perna, ora sobre a outra, espremendo as pernas dos
macacões.
“É o garoto do coroné Sartoris, não é?”, disse afinal o mais velho, e baixou o
corpo rigidamente até a areia, gemendo e resmungando enquanto calçava de
novo os sapatos.
“É ele, sim”, respondeu o filho. “Ele tá morto, papi?”
“Claro que tá”, disse o pai, com mau humor. “Depois desse carro cair da
ponte com ele dentro e ter esmagado ele no riacho? Como você acha que ele tá
se não tiver morto? E o que você vai dizer quando tiver que explicar que foi você
que achou ele morto? Vai, me responde...”
“Vou dizer que o sinhô ajudou.”
“Num tenho nada a ver com isso. Não fui eu que caí com essa coisa da ponte.
Escuta aquilo lá, ainda tá roncando e mexendo. Melhor ir embora que isso vai
explodir.”
“A gente tem que levar ele pra cidade”, disse John Henry. “E se num passar
mais ninguém por aqui?” Ele se agachou, ergueu os ombros de Bayard e o
empurrou até que ficasse sentado. “Me ajuda a subir com ele pelo barranco,
papi.”
“Num tenho nada a ver com isso”, repetiu o outro. Mesmo assim ele se
abaixou, agarrou as pernas, e eles levantaram o corpo de Bayard, que gemeu mas
sem recobrar a consciência.
“Olha aí”, exclamou John Henry. “O sinhô ouviu? Ele num tá morto.” Mas
bem que poderia estar, com o corpo comprido e inerte e o pescoço torcido contra
o ombro de John Henry. Então se ajeitaram com o fardo e se viraram para a
estrada. “Ah!”, exclamou John Henry.
“Vamo lá!”
Galgaram com dificuldade o barranco xistoso e chegaram à estrada, onde o
mais velho deixou a sua extremidade do fardo escorregar para o chão. “Ufa.”
Disse expirando ruidosamente. “É tão pesado como um saco de farinha.”
“Vamo lá, papi, vamo colocá ele na carroça”, disse John Henry. O outro se
abaixou de novo, e ergueram Bayard com suas coxas molhadas empastadas de
terra vermelha, e o colocaram, bufando a cada etapa, na carroça. “Tá parecendo
morto”, acrescentou John Henry, “e tá fazendo como um morto. Vou ficar aqui
atrás com ele pra não deixar que sua cabeça fique batendo.”
“Vai pegar aquele pau de breque que você deixou no riacho”, ordenou o pai,
e John Henry desceu, pegou a viga, subiu de novo na carroça, ergueu a cabeça de
Bayard e a apoiou em seus joelhos. Seu pai desatou as rédeas, montou na boleia
bamboleante e pegou o bastão de nogueira descascada.
“Num tou gostando nada disso”, repetiu. “Eia, mula.” As mulas voltaram a
movimentar a carroça, e eles seguiram adiante. Para trás ficou o carro tombado
no riacho, o motor ainda rodando em falso.
O dono do carro jazia na carroça sem molas, flácido e inerte em meio aos
solavancos. E assim foi por alguns quilômetros, com John Henry protegendo o
rosto do branco com seu surrado chapéu de palha. Então os sacolejos penetraram
naquela região em que Bayard estava, e ele voltou a gemer.
“Mais devagar, papi”, disse John Henry. “Tá sacudindo tanto que vai acordar
ele.”
“Num posso fazer nada”, retrucou o velho, “num fui eu que caí com aquele
carro da ponte. Tenho que ir pra cidade e depois voltar pra casa. Vamo lá, mula.”
John Henry tentou protegê-lo das sacudidas, e Bayard voltou a gemer e levou
a mão ao peito. Então se mexeu e abriu os olhos. Mas fechou-os logo em seguida
por causa do sol e ficou com a cabeça nos joelhos de John Henry, praguejando.
Aí voltou a se mexer, tentando se sentar. John Henry o segurou, e ele abriu de
novo os olhos, lutando.
“Larga, desgraçado!”, disse. “Estou ferido.”
“Sim, sinhô, capitão, se o sinhô ficar quieto...”
Bayard ergueu-se com violência, apertando o lado do tronco; seus dentes
reluziram entre os lábios retesados e ele agarrou o ombro de John Henry com
tanta força como se fossem ganchos de aço. “Para com isso!”, gritou, lançando
olhares fulminantes para a nuca do negro mais velho. “Faça com que ele pare;
diga a ele! Vai acabar quebrando as minhas costelas.” Xingou de novo e tentou
ficar de joelhos, agarrando o ombro de John Henry e apertando o seu flanco com
a outra mão. O velho virou-se e olhou para ele. “Bata nele com alguma coisa!”,
gritou Bayard. “Faça com que pare. Estou ferido, desgraçado!”
Ali eles pararam, o sol caindo inclemente sobre os seus ombros nus e a
cabeça desprotegida, enquanto ele e o velho negro discutiam se deveriam ou não
levar Bayard para a casa dele. Bayard se enfurecia e xingava, mas o outro
mantinha-se queixosamente irredutível. Diante disso, Bayard tomou-lhe das
mãos as rédeas e incitou as mulas a seguirem pelo vale e, com a ponta das
rédeas, chicoteou as criaturas perplexas até que saíssem em desabalada carreira.
O último quilômetro foi o pior de todos. Ao redor, os campos cultivados
estendiam-se até as colinas cintilantes. A terra estava saturada de calor, rompida
e revirada, saturada e embriagada de novo, exalando calor como o bafo de um
alcoólatra. À margem do caminho, as árvores eram escassas e mirradas, e as
mulas reduziram o passo a um ritmo enlouquecedor em meio à poeira que
levantavam. Ele devolveu as rédeas ao negro e, em um aturdimento rubro,
agarrou-se ao assento, consciente apenas de uma sede terrível e de que sua
cabeça tornava-se cada vez mais leve. Também os negros notaram que ele estava
prestes a desmaiar, e o mais novo tirou o chapéu e o ofereceu a Bayard, que o
colocou na cabeça.
Com suas orelhas cômicas e exageradas, as mulas adquiriam formas
fantásticas e mesclavam-se a outras formas desprovidas de sentido, então
continuavam mudando e voltavam a se fundir. Por vezes parecia que estavam
fazendo o caminho de volta, se arrastando horrorosamente diante da mesma
árvore ou do mesmo poste de telefone vezes sem conta, e parecia-lhe que os três,
a carroça sacolejante e os dois animais estavam presos a uma insensata roda de
moinho: sempre em movimento, mas sem avançar, para todo o sempre e sem
escapatória.
Por fim, sem que se desse conta, a carroça fez uma curva e passou pelo
portão de ferro. A sombra caiu sobre os seus ombros nus, ele abriu os olhos e viu
sua casa pairando e flutuando como uma miragem pálida. Cessaram os sacolejos
e os dois negros o ajudaram a descer; o mais jovem o acompanhou até os
degraus, amparando-o pelo braço. Mas ele o afastou, subiu a escada e atravessou
a varanda.
No vestíbulo, depois de tanta luminosidade, por um instante não conseguia
distinguir nada, e ficou ali balançando e um pouco nauseado, piscando os olhos.
Então as órbitas giratórias dos olhos de Simon saíram da obscuridade.
“Santo Deus”, disse Simon, “no que foi que o sinhô se meteu agora?”
“Simon?”, disse ele. Cambaleando e tateando para recobrar um pouco de
equilíbrio, ele topou em algo. “Simon.”
Simon se aproximou e o segurou. “Sempre disse que aquele carro ia acabar
com o sinhô, sempre disse!” Simon passou o braço em torno de Bayard e o
conduziu na direção da escada. Mas ele não queria ir por ali; seguiram em frente
no vestíbulo, Simon o ajudou a entrar no escritório e ali ele estacou, apoiando-se
em uma cadeira.
“Chave”, disse com a voz enrolada. “Tia Jenny. Bebida.”
“Sinhá Jenny foi pra cidade com sinhá Benbow”, respondeu Simon.
“Num tem ninguém aqui, não, só os negro. Sempre disse pro sinhô”, voltou a
se lamuriar, passando a mão em Bayard. “Num tem sangue, não. Vem pro sofá e
fica deitado, nhô Bayard.”
Bayard se mexeu de novo. Simon o segurou e ele arrastou-se à volta da
cadeira e nela afundou, apertando o próprio peito. “Num tem sangue, não”,
balbuciou Simon.
“A chave”, repetiu Bayard. “Pega a chave.”
“Sim sinhô, vou pegar.” Mas continuou a agitar as mãos distraídas em torno
de Bayard até que este o xingou e o afastou com violência.
Ainda gemendo “Num tem sangue, não”, Simon deu-lhe as costas e
precipitou-se para fora do aposento. Bayard inclinou-se para a frente, apertando
o peito. Ouviu Simon subir a escada e atravessar o quarto no andar de cima.
Depois estava de volta, e Bayard o viu abrir a fechadura da porta da escrivaninha
e tirar de lá o decantador com tampa de prata.
Ele o colocou sobre a mesa, saiu de novo e retornou com um copo, e
encontrou Bayard ao lado da mesa, bebendo diretamente do decantador.
Simon o ajudou a se acomodar na cadeira e serviu-lhe uma dose no copo. Em
seguida foi buscar um cigarro e ficou a rondá-lo inútil e distraidamente. “Deixa
que vou buscar o doutor, nhô Bayard.”
“Não. Bota outra dose.”
Simon obedeceu. “Essa já é a terceira. Deixa eu ir buscar a sinhá Jenny e o
médico, nhô Bayard, por favor, sinhô.”
“Não, não. Deixe-me em paz. Saia daqui.”
Engoliu a bebida. A náusea e as miragens haviam passado, já se sentia
melhor. A cada arfada, sentia no lado do corpo agulhadas quentes, por isso
cuidou para respirar superficialmente. Se apenas pudesse se lembrar disso... Sim,
agora começava a se sentir melhor; levantou-se com cuidado, foi até a mesa e
serviu-se de mais bebida.
Não havia dúvida, não havia melhor remédio para um ferimento, como havia
dito Suratt. Como naquela vez em que fora atingido na barriga e nada ficava em
seu estômago além de gim e leite. E isso, isso não era nada: apenas umas
costelas afundadas. Remendar a fuselagem com um pouco de corda de piano.
Não como Johnny. Todos eles mirando nas coxas dele. O maldito açougueiro
nem sequer olhava um pouco mais para cima. Precisava se lembrar de não
respirar fundo.
Atravessou lentamente o aposento. Simon se agitava na penumbra do
vestíbulo e ele galgou lentamente a escada, apoiando-se no corrimão, enquanto
Simon batia as mãos e o observava. Entrou no quarto, o quarto que fora dele e de
John, e ficou por um instante recostado na parede até que pudesse voltar a
respirar superficialmente.
Em seguida foi até o armário e, ajoelhando-se com cuidado, abriu o baú que
estava ali.
Não havia muita coisa nele: uma peça de roupa, um livrinho com capa de
couro, uma cápsula de espingarda presa com um pedaço de arame a uma pata de
urso murcha. Aquele fora o primeiro urso de John, e a cápsula era do projétil
com o qual o abatera no leito de rio perto dos McCallum, quando tinha doze
anos. O livro era um Novo Testamento; na guarda, em desbotada tinta marrom,
“Para o meu filho John, em seu sétimo aniversário, 16 de março de 1900, de sua
Mãe”. Ele tinha um exatamente igual; aquele fora o ano em que o avô havia
arranjado para que o trem de carga local da manhã parasse ali e os levasse até a
cidade onde iriam à escola. A peça de roupa era um colete de caça de lona,
manchado e salpicado com o que havia sido sangue, puído e rasgado nas urzes, e
ainda exalando um leve cheiro de salitre.
Ainda de joelhos, ergueu um a um os objetos e os colocou no chão.
Então pegou de novo o colete, e seu evanescente odor acre e rançoso
alcançou suas narinas com uma insinuação de vida e calor. “Johnny”, murmurou,
“Johnny.” De repente levou o colete em direção ao rosto, mas se interrompeu
bruscamente, e com o colete ainda no ar espiou rapidamente por sobre o ombro.
De imediato, porém, se recompôs, volveu a cabeça, levantou o colete e enfiou
nele o rosto, desafiante e deliberadamente, e assim permaneceu ajoelhado por
algum tempo.
Então se aprumou, recolheu o livro, o troféu de caça e o colete, foi até a
cômoda e dali tirou uma foto. Era um retrato de John com o seu grupo de mesa
em Princeton, e também o colocou sob o braço antes de descer a escada e ir até a
porta dos fundos. Ao sair, Simon estava passando pelo quintal com a charrete e,
diante da cozinha, viu Elnora entoando uma de suas cantilenas intermináveis e
langorosas.
Atrás da barraca de defumação ficava o caldeirão enegrecido e os tanques de
madeira onde, quando fazia tempo bom, Elnora lavava a roupa. E hoje ela
estivera ali lavando; o varal estava carregado com seu fardo úmido e flácido, e
das cinzas macias sob o caldeirão ainda se erguia uma fumaça enovelada. Ele
derrubou o caldeirão com um chute e o rolou para o lado, e da cabana de lenha
trouxe uma braçada de pinho cheiroso e a jogou sobre as brasas. Logo surgiu
uma chama, pálida no ar ensolarado, e, quando a madeira começou a queimar
com mais vigor, ele lançou às chamas o colete, o Novo Testamento, o troféu e a
foto, e ficou a remexê-los até que tivessem se consumido. Na cozinha, Elnora
cantava langorosamente enquanto trabalhava. Sua voz pairava opulenta,
lamuriosa e triste ao longo dos trechos ensolarados do ar. Ele precisava se
lembrar de não respirar fundo.
A carroça parou. Bayard agora estava de quatro, com a cabeça tombada e
balançando de um lado para o outro como um animal ferido. Os dois negros o
contemplavam em silêncio, e, ainda apertando o lado de seu corpo, ele se moveu
e tentou descer da carroça. John Henry deu um salto e o ajudou, e ele saiu
lentamente e apoiou-se na roda, com o rosto exangue e coberto de suor e um
sorriso retesado.
“Volta pra carroça, capitão”, disse John Henry, “e vamo até a cidade pra ver
o médico.”
Parecia que a cor tinha sido drenada também de seus olhos. Ele encostou-se
na carroça, umedecendo os lábios com a língua. Voltou a se mover e sentou-se à
beira da estrada, tateando os botões da camisa, sob o olhar dos negros.
“Tem uma faca aí, garoto?”, perguntou.
“Tenho sim, sinhô.” John Henry a mostrou e, orientado por Bayard, cortou a
camisa para que saísse com mais facilidade. Então, com ajuda do negro, Bayard
a amarrou bem apertada em torno do corpo. Aí se levantou.
“E um cigarro?”
John Henry não tinha. “Papi tem um pouco de fumo de mascar”, sugeriu.
“Dá um pouco, então.” Deram-lhe um pouco de fumo e o ajudaram a subir
de novo na carroça, mas agora sentado na boleia. O outro negro tomou as rédeas.
Foram sacudindo interminavelmente em meio à poeira vermelha, da sombra para
o sol, subindo e descendo os morros. Bayard apertava o peito com os braços e
mascava fumo e xingava sem parar. Avançando sempre, e a cada sacudida, a
cada arfada, as costelas quebradas acutilavam e penetravam em sua carne;
avançando sempre, da sombra para a luz do sol e de volta para a sombra.
Uma derradeira colina, e a estrada saiu da sombra, atravessou o vale plano e
despido de árvores e desembocou na estrada principal.
Simon seguiu rapidamente para a cidade, mas haviam se antecipado a ele. Os
dois negros contaram a um comerciante ter encontrado Bayard à beira do
caminho, e a notícia chegara ao banco, onde o Bayard Velho mandara chamar o
doutor Peabody. Mas o doutor Peabody saíra para pescar, e ele em vez disso
acabou levando o doutor Alford, e ambos iam no carro do médico quando
cruzaram com Simon na divisa da cidade. Este fez meia-volta e retomou o
caminho de casa, mas quando lá chegou o jovem Bayard já fora anestesiado e
estava temporariamente incapacitado de ocasionar mais danos; e quando a
senhorita Jenny e Narcissa, sem saber de nada, chegaram de carro uma hora
depois, ele estava com curativos e de novo consciente. Elas não tinham ouvido
nada. A senhorita Jenny não reconheceu o carro do doutor Alford parado na
entrada, mas bastou-lhe um olhar para o automóvel desconhecido.
“Aquele idiota afinal conseguiu se matar”, disse ela, e saltou do carro de
Narcissa, deslizou para dentro da casa e subiu a escada.
Pálido e imóvel, Bayard estava deitado, um tanto encabulado, em sua cama.
O Bayard Velho e o médico estavam de saída, e a senhorita Jenny esperou que
deixassem o quarto. Então entrou, repreendeu-o furiosamente e afagou os
cabelos dele, enquanto Simon se agitava e fazia caretas no canto entre o leito e a
parede. “Olha aí, sinhá Jenny, olha aí! Sempre disse pra ele!”
Então ela o deixou e desceu à varanda, onde o doutor Alford se preparava
para a sua impecável despedida. O Bayard Velho já estava no carro à espera dele
e, com o surgimento da senhorita Jenny, ele voltou a adquirir sua personalidade
empertigada e terminou de se despedir, e ele e o Bayard Velho partiram.
A senhorita Jenny também vasculhou com os olhos toda a varanda e depois o
vestíbulo. “Onde...”, começou a dizer, e então chamou: Narcissa”. Ouviu uma
resposta. “Onde você está?” Outra resposta, e a senhorita Jenny entrou de novo
em casa e viu o vestido branco de Narcissa na penumbra ao redor do banquinho
do piano. “Ele está consciente”, disse a senhorita Jenny. “Pode subir e vê-lo.” A
outra se levantou e volveu o rosto para a luz. “Ora, o que é isso?”, indagou a
senhorita Jenny. “Você está com uma aparência muito pior que a dele. Está
pálida como um lençol.”
“Não é nada”, respondeu a outra. “Eu...” Fitou um instante a senhorita Jenny,
com os punhos cerrados e caídos. “Preciso ir”, disse afinal e foi para o vestíbulo.
“Está ficando tarde, e Horace...”
“Mas você pode subir um pouco e falar com ele, não é?”, perguntou intrigada
a senhorita Jenny. “Não tem sangue nenhum, se é disso o que você tem medo.”
“Não, não é isso”, respondeu Narcissa. “Isso não me assusta.”
A senhorita Jenny aproximou-se, perspicaz e curiosa. “Ora, não tem
problema”, disse bondosamente, “se você não quiser subir. Só achei que, uma
vez que está aqui, talvez quisesse ver que ele está bem. Mas se não quiser, não se
preocupe.”
“Sim, sim. Tenho vontade. Eu quero vê-lo.” Então passou pela senhorita
Jenny e seguiu adiante. No começo da escada fez uma pausa até que a senhorita
Jenny se aproximasse por trás; em seguida continuou, subindo depressa os
degraus, com o rosto desviado.
“O que está acontecendo com você?”, perguntou a senhorita Jenny, tentando
perscrutar o rosto da outra. “O que houve? Não me diga que está apaixonada por
ele?”
“Apaixonada... por ele? Bayard?” Ela fez uma pausa e então apressou-se,
agarrando o corrimão. Começou a rir baixinho e levou a outra mão à boca. A
senhorita Jenny subia ao lado, perspicaz, curiosa e impassível. Narcissa se
apressou. No topo da escada voltou a parar, ainda com o rosto virado, permitiu
que a senhorita Jenny passasse à frente e diante da porta parou, encostando-se
nela e sufocando o riso e o tremor. Em seguida entrou no quarto, onde a
senhorita Jenny estava ao lado da cama, observando-a.
Pairava no quarto um cheiro adocicado e enjoativo de éter, e ela aproximou-
se cegamente da cama e ali ficou com os punhos cerrados e ocultos. A cabeça de
Bayard estava pálida e calma, como uma máscara esculpida ligeiramente
marcada por sua violência exaurida, e ele a fitava e por um momento ela
retribuiu o olhar; a senhorita Jenny, o quarto e tudo o mais desapareceram na
distância.
“Sua besta, sua besta”, chorou baixinho, “por que você sempre faz esse tipo
de coisa ali onde tenho que ver você?”
“Não sabia que você estava lá”, respondeu Bayard mansamente, ligeiramente
perplexo.
De três em três dias, após pedido da senhorita Jenny, ela vinha, sentava-se ao
lado da cama e lia para ele. Ele não dava a menor importância aos livros; e era
quase certo que jamais lera algo por iniciativa própria, mas ali ficava imóvel em
seu gesso enquanto a grave voz de contralto dela erguia-se incessante no quarto
silencioso. Às vezes ele tentava conversar, mas ela ignorava esses avanços e
continuava a ler; se ele persistia, ela simplesmente se virava e o deixava. Por isso
logo ele aprendeu a dissimular, em geral com os olhos fechados, percorrendo
sozinho as regiões sombrias e estéreis de seu desespero, enquanto a voz dela
deslizava sem parar acima dos ruídos mais distantes que chegavam até eles — a
senhorita Jenny repreendendo Isom ou Simon no térreo ou no jardim, o pipilar
dos passarinhos na árvore perto da janela, o incessante gemido da bomba d’água
além do estábulo. Por vezes ela parava de ler e o contemplava e descobria que
ele estava dormindo tranquilamente.
5.
O velho Falls atravessou a vegetação luxuriante do início de junho e chegou
à cidade em meio aos raios de sol ainda horizontais da manhã, e, em seu
macacão seco e limpo, agora estava sentado diante do Bayard Velho, vestido de
linho imaculado e com um gerânio na botoeira que mais parecia um ferimento
feliz. A sala estava fresca e sossegada, com a clara luz matinal e o pó
eventualmente levantado pelo faxineiro negro. Agora que o Bayard Velho estava
envelhecendo, para não mencionar a tonalidade surda de seus hábitos cada vez
mais rígidos, ele demonstrava uma crescente predileção por objetos de natureza
similar; e revelava uma incrível aptidão para escolher empregados que
amoldavam seu ritmo ao dele em uma espécie de futilidade vaga e
desesperançada.
Um deles era esse faxineiro, que chamava o Bayard Velho de “general”e a
quem este, assim como os outros clientes a quem prestava serviços
aparentemente intermináveis de natureza insignificante e desleixada, chamava de
doutor Jones. Negro e encarquilhado de tanta rabugice e senilidade, ele tirava
proveito de todos que o permitissem, e o Bayard Velho o xingava o tempo que
ele andava por ali e permitia que subtraísse punhados de seu fumo e baldes de
carvão do suprimento de inverno do banco, que depois vendia a outros negros.
A janela sob a qual estavam sentados o Bayard Velho e o seu visitante dava
para um terreno baldio cheio de lixo e ervas empoeiradas.
Ele estendia-se até a decrépita parte dos fundos de várias edificações de
madeira de um andar, nas quais pequenos negócios — lojas de consertos e de
objetos usados e que tais — tinham a sua existência rasteira e muitas vezes
anônima. O próprio terreno era usado durante o dia pelo pessoal da roça como
estacionamento para suas parelhas.
Algumas delas já se encontravam ali amarradas, sonolentas e ruminantes, e,
ao redor das pilhas rançosas de excrementos amoniacais de pacientes gerações
de animais, pardais rodopiavam em nuvens vorazes e loquazes, ou eram as
pombas que acorriam oblíqua e ruidosamente, como persianas enferrujadas, e se
pavoneavam e alisavam as penas com uma pompa requintada e predatória,
arrulhando umas para as outras com uma falta de ênfase gutural.
O velho Falls estava acomodado do outro lado da lareira cheia de lixo,
enxugando o rosto com um imaculado lenço azul quadriculado.
“São essas malditas pernas velhas”, rugiu ele, com leve tom de desculpas.
“Antes andava trinta, vinte, vinte e cinco quilômetro pra ir a um piquenique ou
uma cantoria com menos dificuldade do que tenho agora nesses velho cinco
quilômetro pra vir até a cidade.”
Passou o lenço no rosto bronzeado e animado ao longo de tantos anos pela
terra simples e abundante. “Parece que tão preparando pra me aprontar alguma, e
olha que só tenho noventa e três.” Enquanto segurava o pacote na outra mão,
continuava a passar o lenço pelo rosto, sem fazer nenhum gesto para abri-lo.
“Por que não esperou na estrada até passar uma carroça?”, gritou o Bayard
Velho. “Sempre tem algum desgraçado com uma carga de forragem vindo para a
cidade.”
“Bem que poderia ter feito isso”, assentiu o outro. “Mas chegar aqui tão
depressa ia estragar meu feriado. Não sou como vocês, pessoal da cidade. Não
tenho tanto tempo assim que possa apressá-lo.”
Guardou então o lenço e depositou com cuidado o pacote sobre o consolo, e
do bolso da camisa extraiu um pequeno objeto embrulhado em um trapo limpo e
puído. Entre os seus dedos lassos e lerdos surgiu uma lata de rapé há muito
polida com o brilho opaco e macio de prata manuseada e antiga. O Bayard Velho
observava calmamente enquanto o outro destampava a lata e, com todo o
cuidado, colocava de lado a tampa.
“Agora vira a cara pra luz”, orientou o velho Falls.
“Loosh Peabody diz que essa coisa vai me envenenar o sangue, Will.”
O outro prosseguiu com os lentos preparativos, seus olhos azuis e inocentes
arrebatadamente preocupados. “Loosh Peabody nunca falou isso”, corrigiu sem
se alterar. “Foi um desses médicos jovens que lhe disse isso, Bayard. Incline a
cara pra luz.” O Bayard Velho aprumou-se, apoiando as mãos nos braços da
cadeira enquanto fitava o outro com seus aguçados olhos senis, com uma
gravidade tingida de melancolia; olhos atentos e repletos de coisas indizíveis,
como os olhos dos leões velhos.
Na ponta de um dos dedos, o velho Falls equilibrou um pouco do unguento
escuro e colocou a caixinha com cuidado na cadeira em que estivera sentado, e
então levou a mão ao rosto do Bayard Velho.
Mas este ainda resistia, mesmo que passivamente, observando-o com olhos
repletos de coisas indizíveis. O velho Falls girou com firmeza e suavidade o
rosto do outro até a luz que entrava pela janela.
“Vem pra cá. Não tenho mais idade pra perder tempo machucando os outros.
Fica quieto agora, se não vou melecar toda a sua cara. Minha mão já não é mais
firme pra tirar uma bala de espingarda de um fogão aceso.”
Bayard então se conformou e o velho Falls aplicou a pomada no local com
pequenos e habilidosos toques. Em seguida pegou o pedaço de pano, retirou o
excesso do rosto de Bayard, limpou os próprios dedos, jogou o trapo na lareira,
ajoelhou-se com dificuldade e acendeu um fósforo para queimá-lo. “A gente
sempre faz isso”, explicou.
“Minha vó aprendeu isso de uma índia choctow tem uns cento e trinta anos.
E nenhum de nós jamais disse o que é, nem deixou nenhum rastro.” Levantou-se
rígido e limpou os joelhos. Fechou de novo a caixinha com a mesma atenção
sossegada e a guardou; então pegou o pacote sobre o consolo e voltou a
acomodar-se na cadeira.
“Vai ficar preto amanhã, e enquanto estiver preto é porque tá funcionando.
Não lave a cara com água antes de amanhã, vou voltar daqui a dez dias e pôr
outra dose, e no...”, concentrou-se por um instante, contando lentamente em seus
dedos retorcidos; seus lábios se moviam, mas sem emitir nenhum som, “...no
nono dia de julho, isso vai cair. E não deixa a sinhá Jenny nem nenhum médico
te apavorar por causa disso.”
Estava sentado com os joelhos juntos, sobre os quais colocara o pacote.
Agora começou a abri-lo seguindo o mesmo ritual antigo e laborioso, desatando
o nó rosado com tanta paciência que uma pessoa mais jovem teria gritado para
que acabasse logo com aquilo. Mas o Bayard Velho limitou-se a acender um
charuto e a apoiar os pés na lareira, e depois de um tempo o velho Falls desfez o
nó, tirou o barbante e o colocou no braço da cadeira. Mas o barbante caiu no
chão e ele se abaixou e o tateou com dedos obtusos e o colocou de novo
atravessado no braço da cadeira e o fitou por um instante para ver se não cairia
de novo; em seguida desembrulhou o pacote. Primeiro a caixa de papelão com
fumo, da qual tirou um tijolinho de fumo comprimido e o cheirou e, depois de
revirá-lo na mão, cheirou-o de novo.
Sem se servir, guardou-o de volta junto a seus companheiros e continuou a
explorar o pacote. Abriu bem a boca do saco de papel que tirou em seguida, e
seus olhos inocentes de menino se maravilharam contidamente com o que viram.
“Confesso”, disse, “que às vezes fico envergonhado de gostar tanto de doce.
Nunca me canso disso.” Ainda equilibrando cuidadosamente os outros objetos
sobre os joelhos, inclinou o saco e colocou duas ou três daquelas coisas listradas,
parecidas com camarões, na palma da mão, e devolveu todas com uma única
exceção, que pôs na boca.
“Agora estou com medo de um dia perder os dentes e ter de começar a
mascar isso com a gengiva ou então a comer só os mais moles. Nunca gostei de
doce mole.” Sua bochecha coriácea inchava ligeiramente com morosa
regularidade, como uma respiração. Deu mais uma espiada no saco e avaliou o
seu peso na mão.
“Houve uma época, em sessenta e três, sessenta e quatro, em que um fulano
podia comprar um trecho de terra e um punhado de negro por um saco de doce
assim. Lembro de muitas vezes, quando tudo tava contra nós, quando não tinha
mais açúcar nem café e a comida tava acabando, só milho roubado quando havia
pra roubar, e enganando o estômago com mato quando não havia; acampando de
noite debaixo de chuva...” Sua voz se perdeu entre os espectros de almas e
corpos valorosos do passado, naquelas regiões de anseio vão e glamoroso onde
vivem tais espectros. Deu um risinho e voltou a chupar a bala de hortelã.
“Lembro daquele dia em que a gente tava espreitando perto das tropa de
Grant, no rumo do Norte. Grant tava em Grenada, e o coroné tinha acordado a
gente pra partir, e a gente montou nos cavalo e foi até o Van Dorn lá pra aqueles
lado. Foi no tempo em que o coroné tinha um garanhão prateado. Grant ainda
tava em Grenada, mas Van Dorn levantou acampamento um dia e foi pro Norte.
Bem, a gente não sabia disso. O coroné talvez soubesse, mas não falou nada pra
gente. Não que a gente se importasse, contanto que tivéssemos no caminho de
casa.
“Assim os nosso tavam vindo na direção da gente, com intenção de juntar
força com o resto do pessoal mais tarde. Só que o pessoal num tinha a menor
ideia de que távamos indo encontrar com eles. Mas o coroné nunca teve intenção
de fazer isso; seu milho ainda não tinha sido semeado, e ele tava indo era pra
casa pra cuidar disso. A gente não tava fugindo”, explicou. “A gente sabia que
Van Dorn aguentava eles muito bem por uma ou duas semanas. Ele sempre se
dava bem. Era um homem de valor”, disse o velho Falls, “um homem de valor.”
“Todos eles tinham valor naquele tempo”, concordou o Bayard Velho. “Mas
vocês desgraçados estavam sempre fugindo da luta e indo para casa.”
“Bem”, replicou o velho Falls defensivamente, “mesmo a serra tando
invadida por ursos, uma pessoa não pode ficar caçando urso o tempo todo. Ela
tem de parar de vez em quando, mesmo que seja pra dar descanso pros cachorro
e os cavalo. Mas imagino que os cachorro e os cavalo podiam ficar no rastro o
tempo que precisasse”, acrescentou com orgulho contido. “Claro que nem todo
mundo podia manter o passo com aquele garanhão cor de névoa. Só tinha outro
animal nos confederado que podia ensinar algo pra ele — aquele cavalo que Zeb
Fothergill trouxe de uma das patrulha de cavalaria de Sherman em sua última
incursão no Tennessee.
“Nunca ninguém sabia o que Zeb fazia nessas viagem dele. O coroné dizia
que era apenas pra roubar cavalo. Mas ele nunca voltava com menos de um.
Uma vez voltou com sete das criatura mais ordinária que já pisaram a terra,
imagino. Tentou trocar os animais por carne e fubá, mas ninguém queria. Aí
tentou empurrar os pangaré pro exército, mas até o exército não ficou
interessado. Então no fim ele soltou eles e pediu ao quartel-general de Joe
Johnston dez cavalo vendido para a cavalaria de Forrest. Nem sei se chegou a
receber uma resposta. Nate Forrest nem ia ter aqueles cavalos. Duvido muito até
que tivesse em Vicksburg... Nunca confiei muito em Zeb Fothergill, com ele
indo e vindo por conta própria daquele. Mas que entendia de cavalo, entendia, e
costumava trazer pra casa um bom toda vez que ia pros lado da guerra. Mas
nunca tinha conseguido outro como esse antes.”
Quando o inchaço sumiu de sua bochecha, tirou do bolso o canivete e cortou
com capricho um pedaço do tijolinho de fumo, passando a lâmina nos lábios
para limpá-la. Então refez o pacote e o amarrou com o barbante. A cinza do
charuto do Bayard Velho tremeu suavemente em torno do centro incandescente,
mas não chegou a cair.
O velho Falls deu uma cusparada precisa e pardacenta na lareira fria.
“Naquele dia a gente tava no condado Calhoun”, prosseguiu.
“Era uma manhã de verão bonita como ninguém já viu; os homem e os
cavalo tinha descansado, comido e tavam se sentindo nos trinque, trotando pelo
caminho através dos mato e campo, com os pássaro cantando e os filhote de
coelho saltando de um lado pro outro. O coroné e o Zeb tavam indo lado a lado
em seus cavalo, o coroné no Júpiter e o Zeb naquele baio de dois anos, e como
sempre tavam se vangloriando. Todo mundo conhecia o Júpiter do coroné, mas
Zeb insistia que não ia comer poeira de ninguém. O caminho era bem reto pela
baixada até o rio, e Zeb continuou provocando o coroné pra uma corrida, até que
o coroné diz ‘Tá bom’. Disse aos rapazes para se achegarem e falou que ele e
Zeb iam nos esperar na ponte sobre o rio uns seis quilômetro à frente, e então ele
e Zeb alinharam e saíram à toda. Aqueles cavalo era as criatura mais bonita que
já vi. Foram juntos como dois gaviões, cabeça com cabeça. Sumiram de vista
num instante, levantando um remoinho de pó, mas a gente conseguia
acompanhar os dois bem longe pela poeira que levantavam, vendo ela subindo
pelo caminho como se um desses carro tivesse passando por lá. Quando
chegaram no ponto que o caminho desce pro rio, o coroné tava na frente do Zeb
uns trezento metro. Tinha um riacho logo embaixo da crista, e quando o coroné
passou a toda pelo morro, viu uma companhia de cavalaria ianque com os cavalo
recolhido e os mosquetão empilhado, tavam comendo junto do riacho. O coroné
diz que ficaram lá de queixo caído, olhando pro morro, quando ele apareceu lá,
segurando as caneca de café e pedaço de pão na mão, com os mosquetão
empilhado a uns cinquenta pés dali, olhando pra ele com os olho esbugalhado.”
“Bem, não dava pra ele voltar pra trás, mas, de qualquer modo, acho que não
faria isso mesmo que tivesse tempo. Então mandou ver a espora no cavalo morro
abaixo e passou a toda entre eles, dispersando as fogueira e as arma e os homem,
e berrando: ‘Fechein o cerco, rapazes! Se vocês se mexerem, são homens
mortos’. Teve uns que tentaram escapar, mas o coroné sacou a pistola e disparou,
e aí eles voltaram e juntaram com os outro, e ali ficaram, ainda com a comida
nas mãos, quando chegou o Zeb. E foi assim que a gente encontrou ele quando
chegamos lá dez minuto depois.” O velho Falls deu outra cusparada, igualmente
precisa e pardacenta, e sorriu. Seus olhos brilharam azulados. “Aquele café tava
bom demais”, acrescentou.
“E ali tava a gente, com um monte de prisioneiro que não servia pra nada. A
gente ficou com eles o dia todo e aproveitou pra comer o rancho deles; e quando
anoiteceu pegamos os mosquetão deles e jogamos no riacho, e pegamos a
munição e o resto da comida e colocamos alguém pra guardar os cavalo deles; aí
o resto de nós foi dormir. E durante toda a noite ficamos deitados naqueles
cobertor grosso ianque, ouvindo os prisioneiro fugindo um após o outro,
esgueirando pela barranca até o riacho e sumindo por ali. De vez em quando um
deles escorregava e vinha o barulho de alguém caindo na água ou algo assim;
então tudo ficava quieto por um tempo. Mas logo a gente ouvia eles de novo,
engatinhando pelo mato na direção da água, e nós ali deitado com os cobertor
puxados até a cara. Já tava quase nascendo o dia quando o último deles deu no
pé. “Aí o coroné, de onde tava deitado, soltou um grito que os pobre coitado
podia ouvir por mais de um quilômetro.
“‘Se manda, ianque’, gritou ele, ‘e cuidado com as cobra!’ Na manhã
seguinte selamos os cavalo e carregamos o butim e partimos pra casa. Ficamos
em casa duas semana e o coroné semeou seu milho, quando ficamos sabendo que
Van Dorn entrou em Holly Springs e incendiou os suprimento de Grant. Parece
que nunca precisou de nenhuma ajuda da gente, não senhor.” Mascou o fumo por
um tempo, tranquilamente retrospectivo, revivendo, em companhia daqueles
homens que agora eram pó entre o pó pelo qual, talvez inadvertidamente, haviam
combatido, aquele tempo galante e esfomeado, no qual raros daqueles que pisam
nessa terra podiam acompanhá-lo.
O Bayard Velho sacudiu a cinza do charuto. “Will”, disse ele, “por que diabo
vocês estavam lutando?”
“Bayard”, respondeu o velho Falls, “maldito seja se alguma vez eu soube.”
Depois que o velho Falls partiu com o seu pacote e sua bochecha
inocentemente inchada, o Bayard Velho ficou sentado, fumando o charuto. Logo
em seguida, ergueu a mão e tocou o cisto no rosto, mas levemente, lembrando-se
do conselho de despedida do velho Falls; e ao se lembrar disso, veio o
pensamento de que poderia não ser tarde demais, de que talvez ainda pudesse
remover a pomada com água.
Ele se ergueu e foi até a pia no canto do aposento. Sobre ela havia um
pequeno armário com espelho, e ali examinou o ponto negro em sua bochecha,
apalpando-o outra vez e depois examinando a sua mão. Sim, ainda poderia tirar
aquilo... Mas desgraçado seria se o fizesse; desgraçado seria um homem que não
sabia o que queria.
Atirou longe o charuto, saiu da sala e cruzou o saguão em direção à porta
onde estava a sua cadeira. Antes de chegar à porta, porém, virou-se e aproximou-
se da grade, atrás da qual estava o caixa com sua viseira verde.
“Res”, disse.
O caixa ergueu os olhos. “Sim, coronel?”
“Quem é esse maldito menino que fica circulando por aqui, espiando pela
janela o dia todo?” O Bayard Velho baixou a voz um tom abaixo daquele de uma
conversa normal.
“Que menino, coronel?”
O Bayard Velho então apontou, e o caixa levantou-se de seu banco e espiou
pela grade do balcão e viu, no outro lado da janela indicada, um menino de dez
ou doze anos observando-os com ar inocente e casual. “Ah. É o filho de Will
Beard, lá da pensão”, gritou. “Amigo do Byron, acho.”
“E o que está fazendo por aqui? Toda vez que passo, ele está espiando por
essa janela. O que ele quer?”
“Talvez seja um ladrão de banco”, sugeriu o caixa.
“O quê?”, perguntou o Bayard Velho, colocando a mão em concha atrás da
orelha.
“Talvez seja um ladrão de banco”, gritou o outro, inclinando-se para a frente.
O Bayard Velho fungou, afastou-se ruidosamente e bateu com o encosto de sua
cadeira contra a porta. O caixa acomodou-se disforme em sua banqueta,
enquanto um ruído indistinto emergia das profundezas de seu corpo obeso. Sem
volver a cabeça, disse: “O coronel deixou que Will Falls o tratasse com aquela
pomada”. De sua mesa, Snopes não fez nenhum comentário, nem levantou a
cabeça. Pouco depois, o menino se mexeu e afastou-se com ar de naturalidade e
inocência.
Virgil Beard agora era dono de uma pistola que lançava um jato de água com
amoníaco capaz de provocar uma dor excruciante nos olhos, de uma pequena
lanterna mágica e de um antigo mostruário de doces no qual guardava ovos de
passarinho e um sortimento de insetos que haviam agonizado lentamente em
alfinetes, assim como de um modesto tesouro de moedas de cinco e dez
centavos.
Em julho, Snopes havia mudado de pensão. Passou a evitar Virgil na rua e
assim por duas semanas não vira o garoto nenhuma vez, até que uma noite, após
o jantar, saiu pela porta da frente de sua nova morada e topou com Virgil sentado
quieto e polidamente nos degraus da frente.
“Olá, senhor Snopes”, disse Virgil.
6.
A exasperação e a fúria da senhorita Jenny, quando o Bayard Velho chegou
em casa naquela tarde, não tinham limites. “Seu velho teimoso”, esbravejou,
“não basta o Bayard estar tentando acabar com você, agora você vai atrás desse
charlatão do Will Falls para ele te envenenar o sangue? Depois de tudo o que
disse o doutor Alford, depois que até o Loosh Peabody, que acha que um
tratamento de quinina ou calomelano serve para tudo, de pescoço quebrado a
frieira, concordou com ele? Tenho de dizer que, às vezes, simplesmente não
tenho mais paciência com vocês. Basta o Bayard se acalmar um pouco e eu
deixar de ficar sobressaltada toda vez que toca o telefone, e você sai atrás desse
velho miserável e deixa que ele lambuze seu rosto com graxa e pó de sapato.
Desse jeito, o melhor é eu arrumar minhas tralhas e ir embora, e recomeçar a
vida em algum lugar onde jamais tenham ouvido falar dos Sartoris.”
Ela esbravejava e vociferava; o Bayard Velho retrucou enfurecido, com
palavras violentas e grosseiras, e suas vozes se alçaram e tomaram conta da casa
de tal maneira que, na cozinha, Elnora e Simon passaram a se mover
furtivamente, com as orelhas em pé. Por fim, o Bayard Velho saiu batendo os
pés, montou seu cavalo e afastou-se cavalgando, deixando que a senhorita Jenny
dissipasse sua raiva no ar vazio, e então houve paz por um tempo.
Durante o jantar, porém, a tormenta se formou e se desatou de novo. De trás
da porta basculante da copa, Simon podia ouvir os dois, e também o jovem
Bayard, tentando acalmá-los aos berros. “Parem com isso”, gritou ele, “pelo
amor de Deus. Mal consigo mastigar assim.”
“Você é outro.” A senhorita Jenny voltou-se prontamente contra ele.
“Você é tão insuportável quanto ele. Teimoso e emburrado como ninguém.
Correndo desse jeito por aí naquele carro só porque acha que talvez alguém vai
se importar se você arrebentar o seu pescoço inútil, e depois vem se sentar à
mesa de jantar com esse fedor de estábulo! Só porque foi para a guerra. Você
acha que é a única pessoa do mundo que já foi para a guerra? Você acha que,
quando o meu Bayard veio da guerra, ele ficou atormentando a vida de todo
mundo a sua volta? Mas ele era um cavalheiro: mesmo em suas loucuras ele era
um cavalheiro, não como vocês, roceiros do Mississippi. Bando de caipiras.
Vejam o que ele fez só com um cavalo”, acrescentou. “Não precisou de nenhuma
máquina voadora.”
“E veja a guerrinha de nada em que ele lutou”, replicou o jovem Bayard,
“uma guerra tão insignificante que o vô nem mesmo se deu o trabalho de ficar
por lá na Virgínia, onde tudo estava acontecendo.”
“Ninguém queria ele por lá”, retrucou a senhorita Jenny, “um homem que
perdia a cabeça só porque seus homens o afastaram do comando e elegeram um
coronel melhor para o seu lugar. Ficou louco e voltou para cá e acabou com uma
tropa de bandoleiros rústicos.”
“Uma guerrinha ordinária”, repetiu o jovem Bayard, “e montado num cavalo.
Qualquer um pode ir à guerra num cavalo. E não vai ter a menor possibilidade de
fazer alguma coisa.”
“Pelo menos ele conseguiu se fazer matar decentemente”, replicou
acidamente a senhorita Jenny. “Com aquele cavalo ele fez mais do que você com
o seu aeroplano.”
“Santo Deus”, disse Simon, com a cara colada na porta da copa.
“Té onde vão com isso? Só os branco ficam brigando assim.”
E assim a discussão ressurgiu e refluiu nos dias seguintes; aí se esgotou e
reapareceu quando o Bayard Velho voltou para casa com outra aplicação de
unguento. Mas, a essa altura, Simon estava enfrentando seus próprios problemas,
problemas que afinal o levaram certa tarde a consultar o Bayard Velho. O jovem
Bayard estava recolhido ao leito com as costelas quebradas, com a senhorita
Jenny cuidando dele com selvagem e carinhosa afeição maternal, e desfrutando
das visitas e leituras em voz alta da senhorita Benbow, ao passo que Simon havia
retomado suas rotinas. A cartola e o guarda-pó haviam saído do prego, o estoque
do Bayard Velho diminuía em um charuto por dia e os gordos cavalos
emparelhados dissiparam a preguiça que haviam acumulado entre a casa e o
banco, diante do qual Simon parava a charrete toda tarde como antigamente,
com seu charuto inclinado, o chicote enrolado com elegância e toda a
teatralidade de uma esplêndida ocasião. “O carro”, filosofava Simon, “até que
serve pro prazer e excitação, mas pros modos genuíno de um cavalheiro, só tem
uma coisa, e é o cavalo.”
Desse modo, Simon viu cair-lhe nas mãos sua oportunidade assim que
haviam deixado para trás a cidade e a parelha se acomodara na marcha, e não
deixou de aproveitá-la.
“Bem, coroné”, começou, “acho que eu e o sinhô, a gente vai ter de acertar
uns arranjo de dinheiro.”
“O quê?” O Bayard Velho voltou a prestar atenção, depois de seu espírito se
extraviar pelos familiares campos semeados e as azuladas e reluzentes colinas no
horizonte.
“Queria dizer que acho que eu e o sinhô temos que ver uma coisa a respeito
de um dinheirinho.”
“Muito obrigado, Simon”, respondeu o Bayard Velho, “mas não estou
precisando de dinheiro agora. Mesmo assim, muito obrigado.”
Simon riu desbragadamente. “Tenho de dizer, coroné, o sinhô é bem
engraçado. Um homem rico como o sinhô precisando de dinheiro!” E voltou a
rir, com entusiasmo afetado e contido. “Sim sinhô, o sinhô é muito piadista.”
Então parou de rir e se entreteve algum tempo com os cavalos. Eram gêmeos:
Roosevelt e Taft, com o pelo lustroso e traseiros amplos e confortáveis. “Ei,
Taf’, garra a coalheira! Essa preguiça inda vai acabar com você, vai mesmo!” O
Bayard Velho ficou observando a cabeça simiesca do outro e o balanço precário
de sua cartola. Simon volveu de novo para trás a cara encarquilhada. “Mas o
caso é que agora preciso quietar a negrada de algum jeito.”
“O que eles fizeram? Não conseguem achar ninguém disposto a arrancar o
dinheiro deles?”
“Bem, sinhô, é o seguinte”, explicou Simon. “É uma confusão danada. Eles
tão recolhendo dinheiro pra aquela igreja que pegou fogo e, como juntaram um
pouco, eles entregaram o dinheiro pra mim, por causa do meu posto oficial no
conselho da igreja e porque sou um membro das melhores famílias da região.
Isso foi por volta do último Natal, mas agora eles quer o dinheiro de volta.”
“Isso é estranho”, disse o Bayard Velho.
“Pois é”, concordou prontamente Simon. “Foi bem o que achei.”
“Bem, se eles insistem, acho que o melhor é você devolver o dinheiro para
eles.”
“Agora tamo chegando na questão.” Simon volveu de novo a cabeça; com o
jeito de quem ia fazer uma confidência, lançou a bomba em um tom sussurrado e
melodramático: “Num tem mais dinheiro”.
“Ê, desgraça, bem que eu estava desconfiando”, respondeu o Bayard Velho,
agora subitamente sério. “E o que aconteceu com ele?”
“Apliquei o dinheiro”, contou Simon, em tom ainda de confidência, com um
laivo de doloroso assombro diante da obtusidade do mundo.
“E agora os negro tão me acusando de roubar ele.”
“Você está me dizendo que ficou encarregado de cuidar do dinheiro alheio e
acabou emprestando ele para outros?”
“O sinhô faz a mesma coisa todo dia”, respondeu Simon. “Num é emprestar
dinheiro o negócio do sinhô?”
O Bayard Velho fungou com violência. “Melhor você pedir de volta esse
dinheiro e devolver tudo para esses negros, pois senão vai acabar na cadeia, está
me ouvindo?”
“Sinhô tá falando igualzinho esses negro metido da cidade”, disse Simon
com um tom ferido. “O dinheiro foi aplicado, ora”, relembrou ao patrão.
“Peça de volta. Não te deram nenhuma garantia?”
“Deram o quê?”
“Algo de valor equivalente ao dinheiro, para você guardar até ele ser
devolvido.”
“Sim sinhô, claro que tenho.” Simon voltou a rir consigo mesmo,
melifluamente, uma risota satírica repleta de insinuações complacentes.
“Sim sinhô, claro que tenho isso. Só que nunca ouvi isso ser chamado de
garantia. Não sinhô, nunca mesmo.”
“Você deu esse dinheiro para alguma vadia?”, perguntou então o Bayard
Velho.
“Bem, a história é a seguinte...”, começou Simon. Mas o outro o
interrompeu.
“Ah, dane-se. E agora você espera que eu pague, não é? Quanto era?”
“Num lembro direito. Os negro diz que era setenta ou noventa dólar ou algo
assim. Mas o sinhô não tem de levar isso em conta; dê o que o sinhô achar que é
certo: eles vão aceitar.”
“Macacos me mordam se vou fazer isso. Eles que se vinguem na sua carcaça
inútil, ou mandem você para a cadeia — o que acharem melhor, mas nem morto
vou pagar um centavo disso.”
“Ora, coroné”, disse Simon, “o sinhô não vai deixar que esses negro da
cidade acuse um membro da sua família de ser ladrão, vai?”
“Vai, vamos embora!”, gritou o Bayard Velho. Simon virou-se na boleia,
estalou a língua para os cavalos e seguiu adiante, a ponta do charuto inclinada
para a aba do chapéu, os cotovelos erguidos e o chicote preso elegantemente na
mão, lançando de tempos em tempos olhares de desdém tolerante aos negros que
se esfalfavam entre as fileiras de algodoeiros.
O velho Falls recolocou a tampa na latinha de unguento, limpou-a
meticulosamente com um pedaço de trapo e, em seguida, ajoelhou-se diante da
lareira fria e aproximou um fósforo aceso do pano.
“Imagino que os doutores continuam a dizer que isso vai te matar, não é?”,
perguntou.
O Bayard Velho apoiou os pés na lareira, levando um fósforo numa das mãos
em concha para acender um charuto, fazendo refletir duas minúsculas chamas
em seus olhos. Então atirou longe o fósforo e grunhiu.
O velho Falls observou o trapo pegar fogo lentamente, com um pungente fio
de fumaça amarelada espiralando no ar parado. “Vez por outra um cara tem que
juntar coragem e cuspir no rosto da destruição, alguma coisa assim, pro seu
próprio bem. Tem, vamo dizer, que afiar a si mesmo, como se tivesse afiando
uma faca na pedra”, comentou, ainda ajoelhado diante da pungente espiral de
fumaça, como se estivessem em um ritual pagão em miniatura. “Se de vez em
quando a gente mostra a cara pra destruição, a destruição deixa a gente em paz
até chegar a hora certa. A destruição gosta de surpreender a gente pelas costa.”
“O quê?”, disse o Bayard Velho.
O velho Falls levantou-se e limpou meticulosamente o pó de seus joelhos.
“A destruição é igual qualquer outro covarde”, vociferou. “Ela não bate
numa pessoa que olha pra ela no olho, a não ser quando chega perto demais. Teu
pai sabia disso. Ficou na porta daquele armazém no dia em que os dois nortista
trouxeram os negro pra votar neles em 72. Ficou lá, de casaca e chapéu de castor,
os braço cruzado, quando os outro já tinha ido embora, vendo os dois fulano de
Missouri juntando a negrada e levando pro armazém; ficou bem na entrada
enquanto os nortista começou a recuar com as mão no bolso até ficar longe dos
negro, xingando ele. E ele ali parado, bem desse jeito.”
O velho Falls então cruzou os braços no peito, com as mãos aparecendo, e
por um átimo o Bayard Velho reconheceu, como se através de um vidro
nevoento, aquela figura arrogante e familiar que o velho de macacão surrado
conseguira de algum modo imolar e preservar no vácuo de seu próprio ser
abnegado. “Então, quando foram embora, se afastando pela rua, o coroné foi pra
dentro e tirou de lá a urna de voto e colocou ela entre os pé. ‘Vocês negro vieram
aqui pra votar, não é?’, diz ele. ‘Muito bem, então venham aqui e votem.’ E
quando eles se afastaram e dispersaram, ele disparou essa pistola danada sobre
as cabeça deles umas duas vezes; aí carregou de novo a pistola e foi pela rua até
a pensão da senhora Winterbottom, onde os dois cara tavam hospedado. ‘Minha
senhora’, diz ele, erguendo o chapéu, ‘tenho uma pequena questão pra discutir
com os seus hóspede. Com licença’, diz ele, e coloca de novo o chapéu e sobe
pelas escada firme como se tivesse numa parada, com a senhora Winterbottom
olhando pra ele de queixo caído. E vai direto até o quarto em que eles tavam
sentado atrás de uma mesa, bem diante da porta, com as pistola na mesa.”
“Quando lá fora a gente ouviu os três tiro, a gente correu pra ver. A senhora
Winterbottom tava lá parada, olhando de boca aberta pra escada, e logo depois
desceu o coroné com o chapéu inclinado na cara, descendo calmo como um
jurado de tribunal, limpando o paletó com o lenço. E a gente toda parada ali,
olhando pra ele. Ele parou na frente da senhora Winterbottom e ergueu de novo
o chapéu.”
Dali de onde espreitava, atrás da porta da copa, Simon podia ouvir o alarido
constante das vozes da senhorita Jenny e do Bayard Velho; mais tarde, quando
haviam passado ao escritório, e Elnora, Caspey e Isom estavam sentados à mesa
da cozinha esperando por ele, o ruído surdo da fúria da senhorita Jenny e a
pétrea obstinação do Bayard Velho chegavam a eles em ondas abafadas, como de
uma praia distante.
“Que que tão discutindo agora?”, perguntou Caspey. “Você aprontou
alguma?”, perguntou ao sobrinho.
Isom revirou os olhos mudamente acima de seu queixo firme.
“Que nada”, murmurou. “Num aprontei nada.”
“Parece que já tão se cansando. O que o papi tá fazendo, Elnora?”
“Tá lá na frente, ouvindo. Vai lá e diz pra ele vir comer a janta que eu quero
acabar logo com isso, Isom.”
Isom deslizou para fora da cadeira, ainda mastigando, e saiu da cozinha. A
fúria ininterrupta das duas vozes aumentou; ali no vestíbulo escuro, onde estava
a vaga figura de seu avô como uma ave antiga e ignominiosa, Isom conseguia
distinguir as palavras: veneno... sangue... acha que você pode cortar fora a
cabeça e curá-la... idiota passou isso no seu pé mas... rosto e cabeça... morto e já
vai tarde... como você é idiota morrendo porque é cabeça-dura e insensato...
antes você deitado de costas...
“Você e aquele maldito médico estão me deixando louco e vão acabar
comigo.” A voz do Bayard Velho suplantou temporariamente a outra. “Will Falls
não vai ter a oportunidade de me matar. Não consigo ficar na minha cadeira lá no
banco sem aquele maldito moleque ficar me espreitando e fazendo uma cara de
decepção quando vê que estou vivo e bem. E quando volto para casa, e fico
longe dele, não consigo nem mesmo jantar em paz. Tem de ficar me mostrando
um monte de malditas imagens coloridas do que algum imbecil acha que são as
entranhas de um homem.”
“Quem vai morrer, papi?”, sussurrou Isom.
Simon volveu a cabeça. “Que que você tá bisbilhotando aqui, moleque?
Volta já pra cozinha, que é o seu lugar.”
“A janta tá na mesa”, disse Isom. “Quem tá morrendo, papi?”
“Tem ninguém morrendo. Alguém tá parecendo morto? Agora sai daqui.”
Juntos, atravessaram a sala e entraram na cozinha. Atrás deles as vozes se
alteavam enraivecidas, abafadas um pouco pelas paredes, mas ainda dominantes
e inequívocas.
“Por que tão brigando agora?”, perguntou Caspey, de boca cheia.
“Isso é assunto dos branco”, disse-lhe Simon. “Você cuida das tuas coisa, que
eles acaba se entendendo.” Quando se sentou, Elnora ergueu-se e encheu uma
xícara com o café do bule que estava no fogão e levou para ele. “Os branco têm
seus problema tanto quanto os negro. Passa o prato de carne, menino.”
Na casa, a tempestade seguia o seu curso noturno e cessava como se por
acordo mútuo, com ambos os lados irredutíveis; e era retomada à mesa de jantar
na noite seguinte. E assim foi, dia após dia, até que na segunda semana de julho,
seis dias depois que o jovem Bayard fora levado para casa com o peito
esmagado, a senhorita Jenny, o Bayard Velho e o doutor Alford foram a
Memphis para ver uma renomada autoridade em enfermidades do sangue e das
glândulas, com a qual o doutor Alford, não sem dificuldade, conseguira marcar
uma consulta formal. O jovem Bayard ficou preso ao leito, com um colete, mas
Narcissa Benbow prometera visitá-lo e fazer-lhe companhia durante o dia.
Reunindo suas forças, os dois haviam conseguido colocar o Bayard Velho no
trem da manhã, sob protestos e blasfêmias, como um boi teimoso e perplexo. No
vagão havia gente que os conhecia e que notou a presença adicional do doutor
Alford, o que lhes despertou a curiosidade e a solicitude. O Bayard Velho
aproveitou essas oportunidades para se reafirmar, com violentos resmungos que
foram ignorados pela senhorita Jenny.
Eles o levaram, como um menino emburrado, à clínica onde veriam o
especialista e, em um aposento que mais parecia o saguão de um descontraído e
informal hotel de veraneio, sentaram-se entre pessoas que conversavam em voz
baixa, em meio a uma desordenada confusão de jornais e revistas, e aguardaram
a chegada do médico. E esperaram por muito tempo.
Entretanto, de tempos em tempos, o doutor Alford investia contra a
inexpugnável afabilidade da recepcionista, era rechaçado e voltava e retomava
rigidamente seu lugar ao lado do paciente, consciente de que a cada minuto
estava decaindo na opinião que a senhorita Jenny tinha dele. Agora também o
Bayard Velho estava intimidado, embora de vez em quando grunhisse
esperançosamente para a senhorita Jenny.
“Ó, pare de me xingar”, ela o interrompeu por fim. “Agora não dá mais para
ir embora. Olha, esse é o jornal de hoje... dê uma espiada nele e fique quieto.”
Então o especialista entrou bruscamente e seguiu até a mulher da recepção.
O doutor Alford levantou-se assim que o viu e se aproximou.
O especialista se virou — um homem vigoroso e elegante, que se movia com
gestos altivos e abruptos, como se estivesse treinando esgrima, e que ao se virar
quase tropeçou no doutor Alford. Fitou o colega com um olhar vítreo e
impaciente, em seguida apertou-lhe a mão e passou a emitir em tom alto breves
frases secas. “Em ponto, entendo. Prontidão. Prontidão. Isso é bom. Paciente
aqui? Passou bem na viagem?”
“Sim, doutor, ele...”
“Ótimo, ótimo. Já se despiu e está pronta, não?”
“É o paciente, um ho...”
“Só um instante.” O especialista deu-lhe as costas. “Ó, senhora Smith.”
“Pois não, doutor.” A mulher da recepção não ergueu a cabeça, e nesse
instante outro especialista, um homem corpulento de ar majestoso e sub-reptício,
como um agente funerário régio, chegou e interrompeu o doutor Alford, e por
um tempo os dois ficaram confabulando aos cochichos enquanto o doutor Alford
permanecia esquecido ao lado, enfurecido mas teso e polido, sentindo-se afundar
cada vez mais na opinião que a senhorita Jenny tinha de sua importância
profissional. Então os dois especialistas encerraram a conversa, e o doutor
Alford conduziu o seu homem até o paciente.
“A paciente está pronta, você disse? Ótimo, ótimo; não se perde tempo
assim. Hoje tenho almoço no centro da cidade. Você já almoçou?”
“Não, doutor. Mas o paciente é um...”
“Temo que não”, concordou o especialista. “Mas ainda há tempo de sobra.”
Quando se virou abruptamente na direção de uma porta com cortina, o doutor
Alford agarrou-lhe o braço com firmeza, mas de modo cortês, e o deteve. O
Bayard Velho estava entretido com o jornal. A senhorita Jenny os observava com
um olhar gélido, seu chapéu equilibrado bem no alto da cabeça.
“‘Minha senhora’, diz ele, ‘tive que sujar muito o seu quarto de hóspedes.
Por favor, aceite minhas desculpas, mande sua negra fazer a limpeza e depois
diga quanto devo. Peço desculpa mais uma vez, por ter sido obrigado a
exterminar verme no seu estabelecimento’. ‘Cavalheiros’, diz pra gente, ‘bom
dia.’ E então puxou a aba do chapéu sobre o olho e saiu andando.
“E, Bayard”, continuou o velho Falls, “de algum modo senti inveja daqueles
nortista, maldito seja se não senti. Um homem pode arrumar uma esposa e viver
com ela um tempão, mas no fim das conta nunca viram parente. Mas o homem
que traz a gente pro mundo, ou que tira a gente dele...”
No trem de volta, naquela noite, o Bayard Velho, que havia ficado absorto
em pensamentos por um longo período, de repente se pôs a falar.
“Jenny, que dia do mês é hoje?”
“Nove”, respondeu a senhorita Jenny. “Por quê?”
O Bayard Velho ficou pensativo mais um tempo. Em seguida levantou-se.
“Acho que vou esticar as pernas e fumar um charuto”, disse afinal. “Imagino que
um pouco de tabaco não vai me fazer mal, não é, doutor?”
Três semanas depois receberam a conta do especialista, no valor de cinquenta
dólares. “Agora sei por que é tão famoso”, disse acidamente a senhorita Jenny. E
aí, virando-se para o sobrinho: “Você deveria agradecer aos céus por ele não ter
roubado o seu chapéu”.
Em relação ao doutor Alford, ela se manteve feroz e beligerantemente na
defensiva; quanto ao velho Falls, ela se limitava ao mais breve e frio aceno,
seguindo adiante com o nariz empinado; já para Loosh Peabody, ela nunca mais
se dignou a lhe dirigir a palavra.
7.
Ela passou do calor da manhã nova para a frescura do vestíbulo, onde Simon,
ociosa e altivamente senhorial com seu espanador, a cumprimentou com um
movimento da cabeça. “Foi todo mundo pra Memphis”, informou. “Mas nhô
Bayard tá esperando. Pode subir, sinhá.”
“Obrigada”, respondeu ela, seguindo adiante e galgando os degraus,
enquanto o deixava ocupado em mover o pó de uma superfície para outra, e
depois desta para aquela. Subiu a escada em meio a uma constante corrente de ar
que soprava das portas abertas no fundo do vestíbulo. Por essas portas dava para
distinguir um trecho dos morros azulados e do céu cor de sal. Parou diante da
porta de Bayard e ali ficou um instante, abraçando o livro junto ao peito.
A despeito da azáfama de Simon no vestíbulo do térreo, a casa encontrava-se
estranhamente quieta sem o conforto da presença animada da senhorita Jenny.
Ruídos débeis ressoavam ao longe — sons de fora cujas langorosas
reverberações finais eram levadas até a casa pelo ar vívido de julho; sons por
demais sonolentos e remotos para se desvanecerem.
“Não acho que alguém doente deva ficar sozinho, só com os negros em
casa”, disse ela, debruçada sobre o livro. “O título deste é...”
“Seria melhor mandar chamar uma enfermeira, não é? Não tem por que você
vir até aqui.” Por fim ela o encarou, com seus olhos sérios e desesperados. “Por
que faz isso se não tem vontade?”, insistiu ele.
“Não me importo”, respondeu ela e abriu o livro. “O título deste é...”
“Espere um pouco”, interrompeu ele. “Vou ter de ouvir essa maldita coisa o
dia todo. Vamos conversar um pouco.” Mas a cabeça dela continuou baixa e suas
mãos ainda seguravam o livro aberto. “Por que você tem medo de conversar
comigo?”
“Medo?”, repetiu ela. “Você preferia que eu fosse embora?”
“O quê? Não, que droga, claro que não. Só queria que você fosse um pouco
humana de vez em quando e falasse comigo. Venha cá.” Ainda sem encará-lo,
ela ergueu as mãos entre ambos como se ele não estivesse prostrado a quase dois
metros dali. “Venha, chegue mais perto”, ordenou ele. Ela se levantou, agarrando
o livro.
“Vou embora”, disse, “direi ao Simon que fique por perto, caso precise de
algo. Até mais.”
“Aqui”, exclamou ele. Ela caminhou apressada até a porta.
“Até logo.”
“E isso que você acabou de dizer, sobre me deixar sozinho só com os negros
na casa?” Ela parou à porta, e ele acrescentou com fria astúcia: “E depois do que
lhe pediu a tia Jenny, o que vou dizer a ela, hoje à noite? Que tanto medo, afinal,
você tem de um homem preso à cama, em um maldito colete de ferro?” Ela
apenas o fitou com seus graves olhos desesperançados. “Está bem, que droga!”,
disse ele com violência. “Vai, então.” E aí virou a cabeça no travesseiro e
contemplou de novo a janela enquanto ela retornava à cadeira. Mais calmo, ele
perguntou: “Bem, e qual é o título desse livro?” Ela lhe disse. “Vamos à leitura,
então. De qualquer modo, acho que logo, logo vou cair no sono.”
“Senhorita Du Pre, coronel Sartoris”, apresentou o doutor Alford, “este é o
doutor Brandt. O coronel Sartoris é o seu pa...”
“Como vai? Como vai? Vieram acompanhando a paciente, não?
Filha? Neta?” O Bayard Velho ergueu os olhos.
“O quê?”, disse ele, colocando a mão atrás da orelha, enquanto o especialista
fitava-lhe o rosto.
“O que é isso em seu rosto?”, perguntou ele, estendendo de repente a mão e
apalpando a excrescência enegrecida. Quando fez isso, a coisa se soltou em seus
dedos, deixando na face enrugada mas imaculada do Bayard Velho uma área
redonda de pele rosada e macia como a de um bebê.
O relógio soou doze vezes. Logo em seguida, precedido por sua respiração
estertorosa e sons sub-reptícios como os de uma enorme ratazana, e de ainda
outros ruídos furtivos de ratazana no salão do térreo, Simon enfiou a cabeça pela
porta, como o avô de todos os símios.
“Ainda tá dormindo?”, perguntou em um sussurro rouco.
“Shhhhhh”, fez Narcissa, levantando a mão. Simon então entrou na ponta
dos pés, respirando pesadamente e arrastando os pés no chão. “Silêncio”, disse
rapidamente Narcissa, “assim vai acordá-lo.”
“O almoço tá na mesa”, disse Simon, ainda naquele sussurro rascante.
“Você pode manter o prato dele quente até que acorde, não pode?”, sussurrou
Narcissa. “Simon!”, voltou a sussurrar. Ela se ergueu, mas ele já havia se
aproximado da mesa, onde mexeu desajeitadamente na pilha de livros e
conseguiu por fim derrubá-la no chão com uma barulheira tumultuosa. Bayard
abriu os olhos.
“Deus do céu”, disse ele, “o que está fazendo aqui de novo?”
“Bem, ora”, exclamou Simon com uma consternação formal, “não é que eu e
sinhá Benbow acabamos acordando ele.”
“Não entendo por que você não aguenta ver alguém deitado e de olhos
fechados”, disse Bayard. “Graças a Deus você não nasceu em bando como os
mosquitos.”
“Ouve só ele”, disse Simon. “Vai dormir brigando e acorda brigando. Elnora
tá com o almoço pronto pra todos.”
“Por que você não trouxe aqui pra cima, então?”, disse Bayard.
“Também o da senhorita Benbow. A menos que você queira que eu desça?”,
acrescentou.
Em todos os seus gestos, Simon era uma caricatura de si mesmo.
Agora assumira uma atitude de reprovação chocada. “O lugar de comer é na
sala de jantar”, disse.
“Deixa estar”, disse Narcissa, “eu desço. Não vou dar trabalho para o
Simon.”
Mas do aposento à sua frente não vinha absolutamente nenhum ruído. Talvez
ele estivesse adormecido, e o impulso inicial — a promessa que fizera e a
constância de seu coração desesperado que lhe permitira chegar ali apesar da
ausência da senhorita Jenny — tinha cumprido seu objetivo e a abandonara, e ela
permaneceu do lado de fora da porta, desejando que ele estivesse adormecido,
que dormisse o dia todo.
Mas, como teria de entrar no quarto para comprovar isso, levou a mão ao
rosto, como se assim lhe restaurasse a habitual e serena tranquilidade que ele
reconheceria, e entrou.
“Simon?”, indagou Bayard. Estava deitado de costas, as mãos cruzadas sob a
cabeça, olhando pela janela no outro lado do quarto, e ela fez outra pausa diante
da porta. Por fim, alertado pelo silêncio, ele volveu a cabeça e seu olhar
desolado. “Ora, ora, macacos me mordam. Não achava que você viria hoje.”
“Pois é”, respondeu ela. “Como está se sentindo?”
“Não depois do modo como você fica sentada inquieta no salão toda vez que
a tia Jenny sai”, prosseguiu ele. “De qualquer modo, foi ela que lhe pediu para
vir, não foi?”
“Foi, ela me pediu. Não quer que você fique sozinho o dia todo, só com o
Simon na casa. Está se sentindo melhor?”
“E então?”, perguntou ele, arrastando as sílabas. “Não vai sentar?”
Ela aproximou-se de sua cadeira costumeira, posta em um canto, e a arrastou
pelo chão. Sob o olhar dele, girou a cadeira e se acomodou.
“O que acha disso?”
“Disso o quê?”
“De vir aqui me fazer companhia.”
“Trouxe um livro novo”, disse ela. “É um H... um que acabei de receber.
Espero que goste.”
“Também espero”, assentiu ele, sem convicção. “Parece que vou acabar
tomando gosto por isso, não é? Mas o que você acha de vir aqui hoje?”
Ela abriu o livro e começou a ler, apressadamente, como se estivesse
agachada atrás do biombo de palavras erguido entre eles por sua voz. Continuou
a ler sem alterar o ritmo por algum tempo, enquanto ele permanecia imóvel na
cama, a cabeça dela tombada sobre o livro, consciente da passagem do tempo,
como se estivesse correndo contra o tempo. Ela terminou uma sentença e parou,
sem erguer a cabeça, mas logo em seguida ele falou.
“Pode continuar. Ainda estou aqui. Talvez na próxima vez.”
A manhã avançava. Em algum lugar um relógio soava todo quarto de hora,
mas fora isso não se ouvia nenhum outro ruído na casa.
Havia muito cessara a movimentação de Simon no térreo, mas um murmúrio
de vozes a alcançava de quando em quando, sussurrantemente indistinto. No
galho perto da janela as folhas não se moviam, e no ar cálido miríades de ruídos
fundiam-se em um sonolento tom monótono — as vozes dos negros, os sons dos
animais no terreiro, o gemido cadenciado da bomba d’água, uma repentina
cacofonia de aves sob a janela, entremeada aos gritos desprovidos de sentido
com que Isom as enxotava.
Bayard acabou por cair no sono e, ao notar isso, ela também se deu conta de
que não sabia exatamente quando parara de ler. Ficou sentada com o livro aberto
no regaço, uma página cujas palavras não lhe haviam deixado nenhum eco no
espírito, contemplando o rosto calmo dele. Voltara a ser como uma máscara de
bronze, depurada pela enfermidade do calor da violência, mas com esta ainda
dormitando ali, só um pouco mais refinada... Ela desviou os olhos e continuou
sentada com o livro aberto, as mãos pousadas nas páginas, olhando pela janela.
As cortinas pendiam inertes. No galho diante da janela as folhas estavam
imóveis sob os dedos intermitentes do sol, e também ela permaneceu ali sem
vida, o pano de seu vestido inalterado por sua respiração imperceptível,
pensando que só encontraria paz em um mundo completamente desprovido de
homens.
“Num é trabalho nenhum”, desmentiu Simon. “É só que não...”
“Não, não, vou descer”, disse Narcissa. “Pode ir buscar a bandeja com o
almoço do senhor Bayard.”
“Tá bem, sinhá.” E se moveu em direção à porta. “Sinhá pode descer agora
mesmo. A Elnora coloca na mesa na hora que a sinhá chegar lá.” Então saiu.
“Tentei manter...”, começou Narcissa.
“Eu sei”, interrompeu Bayard, “ele não consegue deixar ninguém dormir na
hora de comer. E é melhor descer logo, senão ele leva tudo de volta para a
cozinha. E não precisa se apressar por minha causa”, acrescentou.
“Não preciso me apressar?” Ela parou à porta e o fitou. “O que você quer
dizer?”
“Achei que você poderia estar cansada de ler.”
“Ó”, exclamou ela, desviando o olhar, e ficou ali um instante envergando seu
grave desespero.
“Olha aqui”, disse ele de repente. “Você está indisposta ou algo assim?
Prefere ir embora?”
“Não, não”, respondeu ela, voltando a se mover. “Logo mais eu volto.”
Almoçou sozinha na pompa sombria da sala de jantar enquanto Simon, após
mandar Isom levar a bandeja de Bayard, ficou rodeando a mesa e empurrando-
lhe pratos com suave insistência, ou então recostado em um aparador e
conduzindo um monólogo desconexo que parecia não ter tido começo e não
mostrava nenhum sinal de que teria fim. Ainda continuou incessante às suas
costas quando ela saiu para o vestíbulo; e quando estava diante da porta de
entrada o monólogo ainda prosseguia, desprovido de vontade, como se fascinado
por sua própria existência e movido por sua própria inércia.
Além da varanda, o canteiro de sálvia estendia-se em manchas clamorosas
sob o insuportável resplendor de luz branca. Mais além, o caminho de entrada
tremelicava no ar quente até que, protegido por robínias e carvalhos, descia
como um túnel fresco e verdejante rumo aos portões e à tórrida faixa da estrada
principal. Adiante desta, os campos se estendiam tremelicantes, interrompidos
aqui e ali por aglomerados imóveis de mata, até as colinas que se dissolviam
azuladas na névoa de julho.
Ela se apoiou um instante na porta, em seu vestido branco, seu rosto
encostado na ombreira fresca e lisa, sentindo uma leve aragem que soprava sem
parar de algum ponto ainda que não se visse nenhuma folha em movimento.
Simon havia saído da sala de jantar e um murmúrio sonolento de vozes veio da
cozinha até o vestíbulo, levado por aquele leve movimento de ar quente demais
para ser chamado de brisa.
Por fim ouviu um movimento no andar de cima e lembrou-se de Isom com a
bandeja para Bayard, então virou-se e abriu as portas da sala de estar e entrou
ali. As persianas estavam fechadas e a faixa de luz que a acompanhou somente
acentuou a escuridão. Encontrou o piano e estacou junto dele, tocando-lhe a
superfície empoeirada, pensando na senhorita Jenny, empertigada e indômita na
cadeira ao lado.
Então ouviu Isom descendo a escada; logo os passos dele foram sumindo no
vestíbulo, e ela puxou o tamborete, sentou-se e estendeu os braços ao longo da
tampa fechada.
Simon voltou para a sala de jantar, resmungando consigo mesmo, e foi
seguido por Elnora, e eles tiraram ruidosamente os pratos, enquanto trocavam
palavras que langorosamente subiam e desciam indistintas e sem consonantes.
Em seguida saíram, mas ela continuou sentada com os braços na madeira fresca,
no aposento escuro e quieto onde até mesmo o tempo ficava um pouco
estagnado.
O relógio soou de novo e ela se mexeu. “Estive chorando”, pensou. “Estive
chorando”, disse em um triste murmúrio que se comprazia com sua própria
solidão e mágoa. Diante do alto espelho ao lado da porta, ela parou e espreitou o
seu débil reflexo, tocando os olhos com as pontas dos dedos. Em seguida saiu,
mas parou de novo no pé da escada, com os ouvidos atentos. Então subiu
correndo os degraus, entrou no quarto da senhorita Jenny e foi até o banheiro e
lavou o rosto.
Bayard continuava deitado tal como o havia deixado. Agora fumava um
cigarro. Entre as tragadas batia as cinzas descuidadamente em um pires ao lado
da cama. “E então?”, disse.
“Você vai acabar botando fogo na casa desse jeito”, disse ela, afastando o
pires. “Você sabe muito bem que a senhorita Jenny não permitiria tal coisa.”
“Claro que sei”, concordou ele, um pouco encabulado, enquanto ela
arrastava a mesa e colocava o pires ali.
“Consegue alcançá-lo agora?”
“Consigo, obrigado. Deram bastante comida para você?”
“Deram, sim. O Simon é muito insistente, como você deve saber. Quer que
eu leia um pouco mais, ou prefere descansar?”
“Leia mais, se não se importa. Vou tentar ficar acordado desta vez.”
“É uma ameaça?”
Ele lançou-lhe um rápido olhar enquanto ela se acomodava e pegava o livro.
“Conta, o que houve com você?”, pediu ele. “Parecia que você estava acabada
antes do almoço. Simon te deu uma bebida, ou o quê?”
“Não, não estava assim tão mal.” E ela riu, um pouco descontroladamente, e
abriu o livro. “Esqueci de marcar onde parei”, disse, virando depressa as
páginas. “Você lembra... Claro que não, estava dormindo, não é? E se eu voltar
para o ponto em que você deixou de ouvir?”
“Não precisa, não, leia de qualquer ponto. É tudo mais ou menos a mesma
coisa, imagino. Se você se aproximar mais, acho que consigo ficar acordado.”
“Se sentir sono, durma. Não me importo.”
“Isto significa que não vai chegar mais perto?”, perguntou ele, fitando-a com
seu olhar desolado. Ela aproximou a cadeira da cama, voltou a abrir e virar as
páginas.
“Acho que era mais ou menos por aqui”, disse indecisa. “É, é isso.”
Leu para si mesma uma ou duas linhas e depois passou a ler alto, chegou até
o final da página, e ali sua voz se extinguiu consternada.
Foi até a página seguinte e depois voltou. “Já li isso; agora estou me
lembrando.” Foi mais algumas páginas adiante, uma pequena ruga vincando-lhe
a testa serena. “Também devo ter caído no sono”, disse, lançando-lhe um olhar
de amistosa perplexidade. “Parece que já li páginas e páginas...”
“Tanto faz, comece de qualquer ponto”, repetiu ele.
“Não, espere; foi aqui.” Então voltou a ler e retomou o fio da história. Uma
ou duas vezes ergueu rapidamente os olhos e viu que ele a observava, desolado
mas quieto. Depois de um tempo ele deixou de fitá-la e, por fim, achando que os
olhos dele estavam cerrados, ela concluiu que havia dormido. Então terminou o
capítulo e interrompeu a leitura.
“Não”, disse ele sonolentamente, “ainda não.” Aí, quando ela não retomou a
leitura, ele abriu os olhos e pediu-lhe um cigarro. Ela pôs de lado o livro,
acendeu-lhe o fósforo e retomou o livro.
A tarde foi passando. Os negros haviam ido embora, e não se ouvia nada na
casa além de sua voz, e o relógio que soava todo quarto de hora; lá fora, as
sombras tornaram-se cada vez mais inclinadas, pacíficos arautos do crepúsculo.
Agora ele dormia, a despeito de sua convicção em contrário, e pouco depois ela
parou de ler e pôs de lado o livro. A figura comprida dele jazia rígida no colete
sob o lençol, e ela ficou contemplando-lhe o rosto atrevido e imóvel, e aquele
simulacro grosseiro dele, e então sua mágoa tranquila transbordou de piedade.
Ele era tão completamente destituído de qualquer afeição por qualquer coisa;
tão... tão... duro... Não, não era essa a palavra. Mas “frio” era algo que lhe
escapava; podia até compreender a dureza, mas não a frieza...
A tarde avançava e já se anunciava o começo da noite. Ela ficou a cismar,
imóvel e calma, espiando pela janela, ali onde vento nenhum movia as folhas,
como se esperasse que alguém lhe dissesse o que fazer em seguida, e perdeu
toda noção do tempo, além daquela correnteza escura e lenta que contemplou até
que o mesmerismo da água dissipou a própria água.
Foi então que ele emitiu um som indescritível, e ela volveu de imediato a
cabeça e viu o corpo dele estirando-se terrivelmente no colete, os punhos
fechados e os dentes sob os lábios arregaçados, e, enquanto ela empalidecia e
ficava incapacitada de qualquer movimento, ele voltou a emitir aquele som. Sua
respiração silvava entre os dentes e ele deu um berro, um ruído sem palavras que
se misturou a um jorro de imprecações, e quando por fim ela se levantou e
debruçou-se sobre ele com as mãos na boca, o corpo dele se descontraiu e então,
sob a testa coberta de suor, ele a fitou com olhos atentos e arregalados, nos quais
espreitava o terror, a fúria enlouquecida e gélida e o desespero.
“O desgraçado quase me acertou”, disse com voz seca e tênue, ainda fitando-
a desde a agonia evanescente de seus olhos arregalados.
“Eles formavam um círculo em volta do meu peito, e cada vez que ele
disparava, o círculo se fechava mais ao meu redor...” Tateou o lençol e tentou
puxá-lo até o rosto. “Você me arruma um lenço? Deve haver algum na gaveta de
cima, ali.”
“Claro”, disse ela, “claro”, e foi até a cômoda, onde se apoiou para se
acalmar e deixar de tremer, e ali achou um lenço e o passou para ele.
Tentou secar-lhe a testa e o rosto, mas por fim ele o tomou da mão e virou-se
sozinho. “Você me deixou apavorada”, gemeu ela. “Fiquei muito apavorada.
Pensei que...”
“Desculpe”, atalhou ele bruscamente. “Não foi de propósito. Preciso de um
cigarro.”
Ela deu-lhe um cigarro e acendeu o fósforo, e de novo ele teve de segurar a
mão dela para manter firme a chama e, ainda segurando-lhe o pulso, deu várias
tragadas fundas. Ela tentou soltar a mão, mas os dedos dele pareciam de aço, e
seu corpo tremente a denunciou, e ela voltou a afundar na cadeira, fitando-o com
terror e pavor. Ele consumiu todo o cigarro em tragadas rápidas e profundas e,
ainda agarrando-lhe o pulso, começou a falar do irmão morto, sem nenhum
preâmbulo, brutalmente. Era uma história cruel, sem começo, de uma violência
estúpida e inútil, por vezes degradante e grosseira, ainda que despida do que
tinha de ofensivo por sua própria crueza, tal como a grosseria a poupava da
obscenidade. E subjacente a tudo aquilo, a luta amarga de seu falso e obstinado
orgulho, e ela sentada com o braço estirado e preso na mão dele, e a outra mão
cobrindo a boca, observando-o com um fascínio aterrorizado.
“Ele voava de um lado para o outro: era por isso que eu não conseguia
acertar o boche. Toda vez que ficava na minha mira, John se colocava entre nós,
e aí eu tinha que desviar de supetão antes que um deles me acertasse. Depois ele
parou com os ziguezagues. E assim que o vi glissando para o lado sabia que
tinha sido atingido. Aí vi as chamas em sua asa e ele virado para trás. Não estava
olhando para o boche; estava olhando para mim. O boche então parou de atirar, e
todos nós meio que ficamos ali parados por um tempo. Não tinha ideia do que
John pretendia fazer até que vi os pés dele para fora. Então ele pôs a mão aberta
junto ao nariz, zombando de mim como sempre fazia, e acenou para o boche e,
usando o avião como apoio, se arremessou. Pulou em pé. Não dá para cair muito
nessa posição, sabe, e logo ficou na horizontal, com pernas e braços abertos.
Havia algumas nuvens logo abaixo de nós e ele afundou nelas de barriga, como
se estivesse dando o que chamávamos de bomba numa piscina. Mas não
consegui mais vê-lo depois da nuvem. Sei que baixei de altitude antes que
pudesse ter atravessado a nuvem, pois quando estava lá embaixo, o avião dele
mergulhou perto de mim, tomado pelo fogo. Eu me afastei dele, mas o
desgraçado zuniu ao lado e depois fez uma curva e veio na minha direção de
novo, e tive de desviar. Por isso não pude vê-lo quando saiu da nuvem. Aí baixei
rapidamente, até uma altura em que devia estar abaixo dele, e olhei outra vez.
Mas não consegui encontrá-lo e achei que talvez não tivesse descido o
suficiente, por isso mergulhei de novo. Vi o avião dele bater e explodir a uns
cinco quilômetros dali, mas nunca consegui rever o John. E aí começaram a
disparar em mim do chão...”
Ele continuou falando e a mão dela se afastou da boca e deslizou por baixo
do outro braço e apertou os dedos dele.
“Por favor”, sussurrou ela. “Por favor!” Então ele se calou, olhou para ela e
mudou os dedos de posição, mas quando ela achava que estava livre, eles a
agarraram de novo e agora as duas mãos dela estavam presas. Ela lutou para se
soltar, fitando-o com uma expressão transtornada, mas ele arreganhou-lhe os
dentes e apertou os seus dois braços cruzados sobre a mesa ao lado da cama.
“Por favor, por favor”, implorou ela, ainda lutando; ela podia sentir a carne
de seus pulsos, sentir os ossos ali torcidos como em um vestido frouxo, podia ver
os olhos desolados dele e a derrisão paralisada de seus dentes, e de repente ela
inclinou-se para a frente na cadeira e sua cabeça tombou entre os braços cativos
e começou a chorar com uma histeria desesperada e pavorosa.
Pouco depois, o quarto voltou a ficar silencioso, e ele moveu a cabeça e
contemplou a coroa escura da cabeça dela. Ergueu a mão e viu as contusões
descoloridas onde havia lhe prendido os pulsos. Mesmo então, porém, ela não se
mexeu e ele voltou a pousar a mão sobre os pulsos dela, e pouco depois
cessaram até mesmo os tremores e as convulsões.
“Lamento”, disse ele. “Não vou mais fazer isso.”
Ele podia ver apenas o topo da cabeça morena dela, cujas mãos jaziam
passivas sob as dele.
“Lamento muito”, repetiu. “Nunca mais vou fazer isso.”
“E você vai parar de correr naquele carro?”, perguntou ela, sem se mexer. A
voz dela estava abafada.
“O quê?”
Ela ficou calada. Lentamente, com incontáveis pequenas dores, ele se virou,
com o colete e tudo, pouco a pouco colocando-se de lado, mordendo os lábios e
praguejando baixinho, e acariciou-lhe os cabelos com a outra mão.
“O que está fazendo?”, perguntou ela, ainda sem levantar a cabeça. “Assim
vai quebrar as costelas de novo.”
“Vou”, concordou ele, passando a mão desajeitadamente nos cabelos dela.
“Esse é o problema, é bem isso”, disse ela. “É assim que você age: fazendo
coisas como essa... como essa... Você faz coisas para se ferir só para deixar os
outros preocupados. Você não se diverte nada ao fazer isso.”
“Não mesmo”, concordou ele, e ali ficou com o peito transpassado de
agulhadas quentes, acariciando a cabeça morena com sua mão dura e
desajeitada. Bem acima dele agora o cimo entre as estrelas negras e selvagens, e
à sua volta os vales de tranquilidade e paz. Já era mais tarde, as sombras
tomavam conta do quarto e se perdiam na penumbra, e do outro lado da janela a
luz do sol era uma radiância difusa, sem origem mas palpável. Em alguma parte
vacas mugiam umas para as outras, temperamentais e lamentosas. Por fim ela se
aprumou, passando a mão pelo rosto e pelos cabelos.
“Você está todo retorcido. Jamais ficará bem se não se comportar. Volte a
ficar de costas agora.” Ele obedeceu, lenta e dolorosamente, sob o olhar sério e
ansioso dela. “Está doendo?”
“Não”, respondeu ele, e sua mão voltou a agarrar-lhe os pulsos, que nada
fizeram para escapar. O sol havia se posto, e a penumbra, mãe da quietude e da
paz, preenchia o quarto evanescente, e a noite havia encontrado a si mesma.
“E você não vai mais correr tanto naquele carro?”, insistiu ela na penumbra.
“Não, não vou”, foi a resposta.
8.
Nesse meio-tempo ela recebera outra carta do correspondente anônimo.
Uma noite, ao chegar em casa, Horace levara-lhe a carta ao quarto, onde
estava deitada com um livro; depois de bater, abriu a porta, hesitou um pouco e,
por um instante, eles se entreolharam através da barreira do estranhamento e do
orgulho obstinado de ambos.
“Desculpe o incômodo”, disse ele sem jeito. Ela estava sob a lâmpada do
abajur, a mancha escura dos cabelos sobre o travesseiro, e apenas os seus olhos
se moveram quando ele atravessou o quarto e ficou ao lado de onde ela estava
com o livro abaixado, a contemplá-lo com circunspecta indagação.
“O que está lendo?”, perguntou ele. Como resposta, ela fechou o livro com o
dedo marcando a página e mostrou-lhe a capa e o título colorido. Mas ele não
olhou para o livro. A camisa dele estava desabotoada sob o robe de seda, e sua
mão afilada moveu-se entre os objetos na mesinha junto à cama e dali tirou outro
livro. “Não sabia que você gostava tanto de ler.”
“Agora tenho tempo para isso”, respondeu ela.
“Claro.” A mão dele ainda se movia pela mesa, tocando aqui e ali nos
objetos.
Ela ficou esperando. Mas como ele permaneceu calado, ela disse: “O que
houve, Horace?”
Ele se aproximou e se sentou na beirada da cama. Mas o olhar dela ainda era
antagonístico e interrogador, e havia em sua boca uma sombra de gélida
obstinação. “Narcy?”, começou ele. Ela baixou os olhos para o livro e ele
acrescentou: “Primeiro queria pedir desculpas por te deixar sozinha tantas vezes
à noite.”
“É mesmo?”
Ele pousou a mão no joelho da irmã. “Olhe para mim.” Ela ergueu o rosto e
o antagonismo de seu olhar. “Queria pedir desculpas por te deixar sozinha tantas
noites”, repetiu.
“Está dizendo que vai deixar de fazer isso, ou que vai deixar de aparecer de
vez?”
Por um instante ele ficou pensando sobre o estranho repouso de sua mão
sobre o joelho coberto. Então levantou-se e voltou para junto da mesa,
remexendo nos objetos que lá estavam; em seguida, veio outra vez para a cama.
Ela voltara a ler, e ele tentou tirar-lhe o livro das mãos. Ela resistiu.
“O que você quer, Horace?”, perguntou com impaciência.
Ele voltou a ficar absorto enquanto ela o encarava. Aí olhou para cima.
“Belle e eu vamos nos casar”, disse afinal.
“Por que está me contando? Diga isso ao Harry. A menos que você e Belle
estejam pensando em dispensar a formalidade do divórcio.”
“Bem”, disse, “ele sabe.” Colocou a mão de novo sobre o joelho dela,
acariciando-o por sobre a coberta. “Você não ficou surpresa, ficou?”
“Estou surpresa por você, não pela Belle. Ela é que tem uma natureza
sórdida.”
“É verdade”, reconheceu ele; em seguida: “Quem lhe contou isso? Você não
percebeu sozinha.” Ela ficou com o livro erguido, observando-o. De repente ele
tomou-lhe a mão; ela tentou em vão se libertar. “Quem foi?”, exigiu.
“Ninguém me contou. Pare com isso, Horace.”
Ele largou a mão. “Sei bem quem foi, foi a senhora Du Pre.”
“Não foi ninguém”, repetiu ela. “Vá embora e deixe-me em paz, Horace.”
Atrás do antagonismo, os olhos dela eram irredutíveis e desesperados. “Não
percebe que não adianta nada ficar falando?”
“É verdade”, disse ele esgotado, mas ainda permaneceu sentado, acariciando-
lhe o joelho. Em seguida levantou-se e enfiou as mãos no robe, mas, voltando-
se, parou de novo e tirou do bolso um envelope.
“Uma carta para você. Esqueci de lhe dar à tarde. Desculpe.”
Ela havia voltado a ler. “Deixe na mesa”, disse, sem levantar os olhos. Ele
colocou a carta na mesa e saiu do quarto. À porta ainda se virou, mas a cabeça
dela estava inclinada sobre o livro.
Enquanto ele tirava a roupa parecia de fato que o odor forte e evanescente do
corpo de Belle ficara impregnado ali, e também em suas mãos, mesmo depois de
se deitar; e continuou presente, delineando na escuridão à volta dele a
voluptuosidade opulenta de Belle até que, no âmago daquela região cálida e logo
anterior ao sono onde mora a mãe dos sonhos, Belle tornou-se palpável à medida
que o próprio corpo dele escapava. E também Harry ali estava, com sua tenaz
dificuldade de articulação e seu tatear dolorido que era em parte vaidade ferida e
choque, mas sobretudo a perplexidade sincera de um menino que se libertava
sobretudo sob a forma de legendas de filmes.
Logo antes de mergulhar no sono, seu espírito, com a estranha tendência da
mente à recapitulação ociosa, reproduziu com o assombroso caráter
fantasmagórico de um ditafone um incidente que na hora lhe parecera trivial.
Belle havia afastado a boca e, por um instante, com o corpo ainda agarrado ao
dele, segurara-lhe o rosto entre as mãos e o fitara de modo deliberado e
indagador. “Você tem bastante dinheiro, Horace?” Ele respondera de imediato:
“Tenho, claro que tenho”. E então Belle de novo, envolvendo-o como uma droga
opulenta e fatal, como um mar imóvel e excessivo no qual ele se afogava.
Enquanto isso, os dias iam se acumulando. Não eram dias tristes nem
solitários: eram por demais febris para serem aflitivos, ainda mais com a
natureza dela dilacerada em duas direções e desmoronados os muros de seu
jardim sereno, e ela própria como uma ave ou animal noturno surpreendido em
um feixe de luz e tentando em vão escapar.
Horace havia tomado definitivamente o seu caminho, e como dois estranhos
cumpriam a rotina de seus dias materiais, em um alheamento irredutível de longa
afeição e orgulho similares sob o verniz fino de trivialidades. Ela agora visitava
Bayard quase todos os dias, mas sempre mantendo uma distância discreta de
dois metros.
Ele tentara sobrepujá-la primeiro na base do grito, depois da adulação. Mas
ela se manteve firme e por fim ele desistiu e ficava tranquilamente espiando pela
janela ou dormindo enquanto ela lia.
De tempos em tempos, a senhorita Jenny aparecia à porta, via como estavam
e se afastava. Não mais se encolhia nem era tomada pelo sentimento de
ansiedade e temor em presença dele, e às vezes, em vez da leitura, conversavam
de modo calmo e impessoal, com o fantasma daquela outra tarde entre eles,
ainda que jamais mencionado.
A senhorita Jenny havia se mostrado um tanto curiosa a respeito daquele dia,
mas Narcissa se manteve grave e recatadamente reticente em relação ao
episódio, que jamais foi mencionado por Bayard. E com isso havia agora outro
vínculo entre ambos, mas que nada tinha de penoso. A senhorita Jenny tinha
ouvido comentários a respeito de Horace e Belle, mas também quanto a isso
Narcissa nada tinha a dizer.
“Faça como achar melhor”, disse acidamente a senhorita Jenny, “nada
impede que eu tire minhas conclusões. Imagino que Belle e Horace possam
aprontar juntos uma bela confusão. E confesso que isso me agrada. Aquele
homem está fazendo de você uma solteirona. Ainda não é tarde demais, mas se
ele tivesse esperado outros cinco anos para se meter em uma enrascada, não
sobraria nada para você além de dar aulas de piano. Mas agora você pode se
casar.”
“A senhora acha que é isso que devo fazer? Me casar?”, perguntou Narcissa.
“Não recomendaria o casamento a ninguém. Feliz você não vai ser, mas a
verdade é que as mulheres ainda não são civilizadas o bastante para serem
felizes sem se casar, portanto você não perderia nada em experimentar. Seja
como for, a gente consegue aguentar tudo. E a mudança sempre é uma coisa boa.
Pelo menos, é o que se diz.”
Narcissa, porém, não estava convencida. “Nunca vou me casar”, dizia a si
mesma. Os homens... aí é que estava a infelicidade, quando os homens entravam
em sua vida. “E se eu não pude ficar com Horace, amando-o tanto quanto eu o
amava...” Bayard dormia. Ela ergueu o livro e continuou a ler em silêncio, sobre
gente esquisita em um mundo esquisito onde as coisas ocorriam como deviam
ocorrer.
As sombras se estenderam na direção do oriente. Ela continuou a ler, distante
das coisas passageiras.
Pouco depois Bayard despertou, e ela lhe trouxe um cigarro e um fósforo.
“Não precisa mais fazer isso”, disse ele. “Imagino que esteja arrependida.”
Seu colete seria retirado no dia seguinte, era o que queria dizer, e ficou ali
fumando o cigarro e conversando sobre o que faria quando estivesse bem de
novo. Antes de tudo, iria levar o carro para ser consertado; para isso,
provavelmente, teria de levá-lo a Memphis. E também planejava uma viagem
para os três — a senhorita Jenny, Narcissa e ele — enquanto o carro estivesse na
oficina. “Vai levar mais ou menos uma semana”, acrescentou. “Ele deve estar
bem avariado. Só espero que o motor não tenha estragado.”
“Mas você não vai mais sair com ele correndo por aí”, lembrou ela.
Ele ficou parado, o cigarro queimando entre os dedos. “Você prometeu”,
insistiu ela.
“Quando foi isso mesmo?”
“Você não lembra mais? Naquela... tarde, quando nós...”
“Quando te deixei apavorada?” Ela ficou sentada, encarando-o com olhos
sérios e perturbados. “Venha aqui”, disse ele
Ela se levantou e se aproximou da cama, e ele segurou a mão dela.
“Promete que não vai voltar a correr?”, insistiu ela.
“Prometo”, respondeu ele, “prometo.” E ficaram imóveis assim, a mão dela
na dele. A cortina balançou com a brisa, e as folhas no galho diante da janela
rebrilharam, se mexeram e farfalharam umas contra as outras. Logo mais viria o
pôr do sol. Então cessaria a brisa.
Ele se mexeu.
“Narcissa”, disse. Ela volveu os olhos para ele. “Encoste o rosto aqui.”
Ela desviou o olhar, e por um instante não houve nenhum movimento,
nenhum som entre eles.
“Preciso ir”, disse ela por fim, calmamente, e ele soltou sua mão.
A carta ficou na mesinha durante a noite, esquecida; só na manhã seguinte,
ela a viu e a leu.
“Estou tentando esquecer você
Não consigo esquecer você
Seus olhos grandes seu cabelo preto o modo como o cabelo preto
faz você parecer tão branca. E também o jeito que você anda
Estou de olho em você o cheiro que você tem como de flor. Seus
olhos brilham com mistério e o jeito que você anda me deixa doente
como uma febre a noite toda pensando no jeito que você anda. Eu
podia tocar em você e você nem ia saber. Todo dia. Mas eu não posso
preciso me derramar no papel preciso falar
Você não sabe quem. Seus lábios como flecha de cupido quando
chega a hora quando eu apertar eles nos meus. Como sonhei com
febre do céu pro inferno. Sei o que você faz sei mais do que você
imagina sei dos homens que visitam você e sinto um gosto amargo.
Cuidado que sou um homem desesperado Nada me importa agora Se
você amar algum homem com pecado eu mato ele.
“Você não responde. Eu sei que guardou uma carta porque vi na
sua bolsa. É melhor você responder logo
Estou desesperado roído de febre e nem consigo dormir. Não vou
fazer maldade pra você mas estou desesperado.”
O colete foi retirado, e ele estava novamente em pé, movendo-se um tanto
cautelosamente, é verdade, mas a senhorita Jenny já começava a olhar para ele
com um pouco de ansiedade. “Se a gente conseguisse que quebrasse um dos
ossos menos importantes a cada mês, apenas o suficiente para mantê-lo em
casa...”
“Isso não vai ser preciso”, disse Narcissa. “A partir de agora ele vai se
comportar.”
“E como você sabe disso?”, perguntou a senhorita Jenny. “O que faz você
pensar assim?”
“Ele prometeu que iria se comportar.”
“Ele é capaz de prometer tudo quando preso a uma cama”, retrucou a
senhorita Jenny. “Todos eles fazem isso; sempre fizeram. Mas o que a leva a
pensar que ele vai cumprir a promessa?”
“Ele me prometeu que iria”, respondeu serenamente Narcissa.
A primeira coisa que fez foi cuidar do carro, que já havia sido levado para a
cidade, onde fora precariamente consertado para que pudesse se movimentar
sozinho. Mas era preciso levá-lo a Memphis para que o chassi fosse endireitado
e a carroceria, recuperada. Bayard ficou todo entusiasmado para fazer isso ele
mesmo, a despeito das costelas convalescentes, mas a senhorita Jenny se
intrometeu e, após meia hora de discussão furiosa, ele se deu por vencido. E
assim o carro foi levado a Memphis por um rapaz que frequentava uma das
oficinas da cidade. “Narcissa pode levar você no carro dela, se você acha que
precisa ir”, disse-lhe a senhorita Jenny.
“Naquele carrinho de pipoca?”, retrucou ele, zombeteiro. “Aposto que não
passa de sessenta por hora.”
“Ainda bem, graças a Deus”, respondeu a senhorita Jenny. “E também
escrevi para Memphis e pedi que restringissem a isso a velocidade do seu carro.”
Bayard cravou os olhos nela com frieza e mau humor. “Não acredito que
você tenha feito algo tão desgraçado assim.”
“Ó, tira ele daqui, Narcissa”, exclamou a senhorita Jenny. “Tira ele da minha
frente. Estou cansada de ver a cara dele.”
No início ele se recusava a andar no carro de Narcissa. Não perdia a
oportunidade de se referir a ele com termos grosseiros, depreciativos e jocosos,
mas recusava-se a andar com ela. O doutor Alford havia criado um colete
elástico apertado para o seu peito, a fim de que pudesse cavalgar, mas ele
demonstrava uma propensão assombrosa a vaguear pela casa toda vez que
Narcissa estava lá. E as visitas dela se amiudaram. A senhorita Jenny desconfiou
que o motivo era o Bayard e confrontou a jovem à sua maneira franca e direta;
foi então que Narcissa lhe contou a respeito de Horace e Belle, enquanto a
senhorita Jenny mantinha-se empertigada e indômita na cadeira de espaldar reto
ao lado do piano.
“Pobrezinha”, disse ela, e acrescentou: “Meu Deus, que imbecis!”
E depois: “Bem, você tem razão, eu também não me casaria com nenhum
deles.”
“Longe de mim”, respondeu Narcissa. “O que mais queria era que não
houvesse nenhum deles no mundo.”
“Humpf”, resmungou a senhorita Jenny.
E então uma tarde estavam no carro de Narcissa, e Bayard tomou a direção,
no início sob os protestos dela. Mas ele estava se mostrando tão sensato que ela
acabou por descontrair. Seguiram pela estrada do vale e viraram na direção das
colinas; quando ela perguntou aonde iam, ele se limitou a dar uma resposta vaga.
Ela ficou muda ao lado dele, e logo depois a estrada subia em longas curvas por
entre os pinheiros escuros na luz oblíqua do entardecer.
Serpenteando, a estrada descortinava variadas paisagens ensolaradas do vale
e as colinas opostas a cada volta, sempre em meio aos pinheiros sombrios e seu
leve e revigorante aroma. Pouco depois alcançaram o topo de um morro e
Bayard reduziu a velocidade do carro. Diante deles havia uma longa descida, e
depois a estrada nivelava na direção de um renque de salgueiros, cruzava uma
ponte de pedra e voltava a subir, fazendo uma curva avermelhada que sumia de
vista entre a mata escura.
“Este é o lugar”, disse ele.
“Que lugar?”, repetiu ela sonhadoramente; então, quando o carro começou a
se mover e a ganhar velocidade, ela se deu conta e entendeu o que ele dizia.
“Você prometeu!”, exclamou, mas ele acionou bruscamente o acelerador de mão
até o fim, enquanto ela se agarrava a ele e tentava gritar. Mas não conseguiu
emitir nenhum som, tampouco pôde cerrar os olhos à medida que a ponte estreita
aproximava-se deles bailando, cada vez mais rapidamente. A respiração dela
cessou e também seu coração, enquanto relampejavam, com aguda reverberação,
como granizo em teto de lata, entre os salgueiros e um lampejo estilhaçado de
água, e dispararam morro acima. Na curva, o pequeno carro derrapou, perdeu
apoio e caiu na valeta, ricocheteou para fora e arremessou-se para o meio da
estrada.
Bayard então o endireitou e, reduzindo a velocidade, subiu até o alto do
morro e lá parou. Ela estava imóvel ao lado dele, a boca aberta e pálida,
suplicando-lhe com os olhos arregalados e desconsolados. Então ela recobrou o
fôlego, chorando.
“Não tive intenção...”, começou ele sem jeito. “Só queria ver se
conseguia...”, e então colocou os braços em torno dela, que se agarrou a ele,
passando descontroladamente as mãos sobre os ombros dele. “Não tive
intenção...”, tentou ele de novo, e então as mãos transtornadas dela estavam em
seu rosto e ela soluçava descontroladamente sobre a boca de Bayard.
9.
Passou a tarde toda debruçado sobre os livros contábeis, acompanhando, com
um quê de assombro, sua mão desenhar os nítidos algarismos nas colunas
traçadas a régua. Após uma noite em claro, ele avançava laboriosamente como
se estivesse entorpecido, sua mente por demais exausta até mesmo para
contemplar as imagens sinuosas de sua lascívia, frustrada agora para todo o
sempre, com exceção de um assombro atenuado de que as imagens não mais lhe
infundiam o sangue de fúria e desespero, e por isso ainda levou algum tempo até
que seus nervos embotados reagissem a uma nova ameaça e lhe fizessem erguer
a cabeça. Virgil Beard acabara de passar pela porta.
Deslizando apressado do tamborete, esgueirou-se pelo canto e disparou pela
porta do escritório do Bayard Velho. Curvado atrás da porta, ouviu o menino
perguntar educadamente por ele, ouviu o caixa dizer que ele estava ali agora
mesmo e que devia ter saído; ouviu o menino dizer, bem, acho que vou esperar
por ele. E se agachou atrás da porta, secando com o lenço o fio de saliva que
escorria de sua boca.
Pouco depois, entreabriu a porta cautelosamente. Com ar paciente e afável, o
menino estava agachado, encostado na parede, e Snopes voltou a se aprumar,
com as mãos cerradas e trêmulas. Não praguejou: sua fúria era tão intensa que
estava além das palavras, mas sua respiração entrava e saía com um ruído
entrecortado da garganta, e sentia como se os globos oculares estivessem sendo
puxados, para dentro do crânio, por cordas que se retorciam mais e mais até
chegar ao ponto em que arrebentariam. Abriu a porta.
“Olá, senhor Snopes”, cumprimentou-o animado o menino, levantando-se.
Snopes continuou andando, passou para o outro lado do balcão e aproximou-se
do caixa.
“Res”, disse com uma voz que mal se articulava, “me arruma cinco dólares.”
“O quê?”
“Me arruma cinco dólares”, repetiu com voz rouca. O caixa entregou-lhe o
dinheiro, rabiscou uma nota e a pregou no arquivo ao lado.
O menino tinha ido para perto da janela, mas Snopes passou direto, e ele o
seguiu de volta ao escritório, os pés descalços sibilando no piso de linóleo.
“Tentei encontrar o senhor na noite passada”, explicou. “Mas o senhor não
tava em casa.” Então ergueu a cabeça e viu a expressão de Snopes, depois de um
instante deu um grito, saiu de seu transe e virou-se para fugir. Mas o homem o
agarrou pelo macacão, e ele se contorceu e se revirou, berrando, completamente
aterrorizado, enquanto o homem o arrastava pelo escritório e abria a porta que
dava para o terreno baldio nos fundos. Snopes estava tentando dizer algo com
voz trêmula e enlouquecida, mas o menino gritava sem parar, suspenso e inerte
na mão do outro, enquanto este tentava enfiar-lhe no bolso a nota de dinheiro.
Quando afinal conseguiu, ele largou o menino, que cambaleou para longe,
recobrou o equilíbrio e saiu correndo.
“Por que estava batendo naquele garoto?”, perguntou curioso o caixa quando
Snopes voltou para sua mesa.
“Pra ele deixar de se meter no que não é da conta dele”, respondeu
bruscamente e abriu de novo o livro contábil.
Ao cruzar a praça agora vazia, ele ergueu os olhos para a face iluminada do
relógio. Onze e dez. Não havia nenhum sinal de vida além da figura solitária do
delegado noturno à porta do saguão iluminado da agência de correio.
Deixando a praça, enfiou-se por uma rua e caminhou sem parar sob os postes
de iluminação, tendo a rua para si e a recapitulação regular de sua sombra
caminhante perseguindo-o desde a escuridão, através das poças de luz e
retornando às trevas. Virou numa esquina e entrou numa rua ainda mais tranquila
e logo depois tomou um caminho por entre moitas espessas de madressilva, mais
altas do que sua cabeça e exalando um aroma adocicado no ar noturno.
O caminho era escuro e ele apressou o passo. Em ambos os lados, os andares
superiores das casas elevavam-se acima da madressilva, aqui e ali com uma
janela acesa surgindo entre as árvores escuras.
Manteve-se junto ao muro e avançava com rapidez, passando agora entre
edificações junto aos muros dos fundos. Pouco depois, surgiu outra casa, um
renque compacto de cedros destacou-se do céu mais claro, e ele se esgueirou até
um muro de pedra, do outro lado do qual ficava a garagem. Parou ali e tateou na
relva luxuriante sob o muro, então se abaixou e agarrou uma estaca, que
encostou ao muro. Apoiando-se nela, galgou o muro e passou dali para o telhado
da garagem.
A casa estava às escuras, e ele deslizou para o chão, cruzou furtivamente o
gramado e parou sob uma janela. Havia luz em algum aposento na parte da
frente, mas nenhum som, nenhum movimento; ficou um tempo a escutar,
relanceando os olhos para um lado e para o outro, dissimulado e inquieto como
um animal acuado.
A tela cedeu com facilidade à sua faca, e ele a ergueu e voltou a apurar os
ouvidos. Então, com um salto, já estava dentro do aposento, agachado. Não
ouviu nenhum outro som além das batidas de seu coração, e aquela atmosfera
inconfundível de deserção temporária emanava pela casa toda. Tirou o lenço e
limpou a boca.
A luz vinha do aposento vizinho, e ele seguiu em frente. A escada estava na
outra ponta desse vestíbulo que atravessou em silêncio; e subiu rapidamente por
ela até a escuridão no andar de cima, onde avançou tateando até topar com uma
parede, e depois com uma porta.
A maçaneta girou entre seus dedos.
Era o quarto certo; soube assim que entrou. A presença dela impregnava tudo
ao redor e, por um instante, seu coração disparou, pulsando em sua garganta, e a
fúria e a lascívia e o desespero o sacudiram. Logo se recompôs; precisava sair
dali o quanto antes, mas tateou até a cama e ali se estirou de bruços, a cabeça
enterrada nos travesseiros, contorcendo-se e emitindo gemidos abafados e
animalescos. Mas tinha de ir embora: ergueu-se e voltou a andar às cegas pelo
quarto. O pouco de luz que havia agora estava atrás dele e, em vez de chegar à
porta, chocou-se contra uma cômoda, e ali ficou parado, adivinhando-lhe o
formato com as mãos. Em seguida abriu uma das gavetas e remexeu em seu
interior. Ela estava repleta de peças de roupa frágeis que exalavam um débil
perfume, mas ele não conseguia distinguir uma da outra pelo tato.
Encontrou um fósforo no bolso e o acendeu dentro da palma fechada, e sob
essa luz escolheu uma das peças macias; quando o fósforo se apagava viu um
maço de cartas no canto da gaveta. Ele as reconheceu de imediato, deixou cair
no chão o fósforo apagado, tirou o maço da gaveta e o guardou no bolso; depois
de pôr sobre a cômoda a carta que acabara de escrever, levou ao rosto a peça de
roupa amarfanhada; ficou assim por um tempo até que um ruído fez com que
erguesse bruscamente a cabeça, com os ouvidos atentos.
Um carro estava chegando e, enquanto corria até a janela, os faróis passaram
por baixo dele e pararam diante da garagem aberta, e ele se agachou junto à
janela em pânico. Em seguida correu até a porta e parou de novo, agachado,
resfolegando e praguejando indeciso.
Voltou apressado para a janela. A garagem estava escura, e duas figuras
escuras aproximavam-se da casa, e ele ficou agachado junto à janela até que
tivessem passado. Então, ainda segurando a peça de roupa, saiu pela janela,
pendurou-se com as mãos no parapeito, fechou os olhos e soltou o corpo.
Um ruído de vidro quebrado, e ele se estatelou entorpecido pelo choque em
meio a ruídos menores e uma nuvem de pó seco e mofado. Havia caído sobre um
canteiro raso de flores; arrastou-se para fora dali e tentou ficar em pé, mas caiu
de novo, enquanto era tomado por um redemoinho de náusea. Era o joelho, e
ficou ali enjoado, com os lábios repuxados e resfolegantes, enquanto a perna da
calça encharcava-se lenta e calidamente, agarrado à peça de roupa e
contemplando o céu escuro com olhos esbugalhados e enlouquecidos. Então
ouviu vozes na casa e uma lâmpada se acendeu na janela acima; ele se virou e
começou a se arrastar e, movendo-se com dificuldade numa linha irregular,
atravessou o gramado, mergulhando na penumbra sob os cedros ao lado da
garagem, de onde ficou a observar a janela na qual um homem se inclinou,
espiando para fora; ele gemeu um pouco enquanto o sangue escorria-lhe por
entre os dedos fechados. Forçando-se a seguir em frente, escalou o muro
puxando a perna ensanguentada, caiu na viela e afastou do muro a estaca de
madeira. Uma centena de metros adiante parou, afastou a calça rasgada e tentou
enfaixar o ferimento. Mas o lenço ficou empapado quase de imediato e o sangue
continuou a escorrer pela perna e a entrar no sapato.
Assim que chegou à sala dos fundos do banco, ele enrolou a perna da calça,
desatou o lenço e lavou o ferimento no banheiro. Ainda sangrava, a visão do
próprio sangue o deixou enjoado, e teve de se apoiar na parede, sem despregar os
olhos do sangue. Em seguida tirou a camisa e a amarrou o mais apertado que
conseguiu em torno da perna. Ainda nauseado, fartou-se de beber a água morna
da torneira.
Sentiu como se tivesse água salgada em suas entranhas e agarrou-se à pia,
transpirando, tentando não vomitar, até passar o enjoo. A perna parecia-lhe
insensível e adormecida, ele se sentia muito debilitado e tudo o que queria era se
deitar, mas não se atrevia a tanto.
Entrou então atrás do balcão, seu calcanhar esquerdo deixando uma marca
avermelhada a cada passo. A porta do cofre abriu-se sem nenhum ruído; sem luz,
encontrou a chave da caixa de dinheiro e a abriu. Tirou apenas notas de dinheiro,
mas pegou tudo o que havia lá. Depois fechou o cofre e o trancou, voltou ao
banheiro, umedeceu uma toalha e limpou as marcas de passadas no piso de
linóleo. Aí saiu pela porta dos fundos, arranjando a trava de modo que trancasse
a porta quando a fechasse. O relógio no tribunal soou a meia-noite.
Em uma viela entre duas lojas de negros, um homem negro esperava ao
volante de um Ford dilapidado. Entregou uma nota ao negro, ele deu a partida no
motor com uma manivela, aproximou-se e fitou curioso o pano ensanguentado
sob a calça rasgada. “O que aconteceu, patrão? Não tá ferido, tá?”
“Me cortei numa cerca de arame”, respondeu secamente. “Tem gasolina o
bastante, não?”
O negro disse que sim, e partiram. Quando passaram pela praça, o delegado
Buck estava parado sob a lâmpada diante da agência do correio, e Snopes o
amaldiçoou com um escárnio mudo e amargo. O carro seguiu em frente, entrou
por outra rua e sumiu de vista, e logo o ruído dele também foi se perdendo aos
poucos.
PARTE QUATRO
1.
Era uma tarde de sol num domingo de outubro. Narcissa e Bayard haviam
saído de carro logo após o almoço, e a senhorita Jenny e o Bayard Velho estavam
sentados na parte ensolarada da varanda quando, precedida por Simon, a
delegação aproximou-se solenemente pelo canto da casa, vinda dos fundos. Era
formada por seis negros em um conjunto variado de roupas domingueiras e
liderada por um negro enorme de pescoço taurino envergando uma sobrecasaca e
colarinho eclesiástico, com ar pomposo e um olhar selvagem e autoritário.
“Eles tão aqui, coroné”, disse Simon, galgando apressado os degraus e
virando de frente, de modo que não houvesse a menor dúvida a respeito do lado
com o qual se considerava alinhado. A delegação parou e se agitou um pouco em
um decoro solene.
“Que é isso?”, perguntou a senhorita Jenny. “É você aí atrás, tio Bird?”
“Sou eu sim, sinhá Jenny.” Um dos membros da delegação descobriu a
carapinha grisalha e fez uma mesura. “Como vai a sinhá?” Os outros arrastaram
os pés, e um após o outro foram descobrindo as cabeças. O líder segurou o
chapéu junto ao peito como um parlamentar posando para uma foto.
“Ei, Simon”, indagou o Bayard Velho, “o que é isso? Por que você trouxe
esses negros para cá?”
“Eles vinheram buscar o dinheiro deles”, explicou Simon.
“O quê?”
“Dinheiro?”, repetiu interessada a senhorita Jenny. “Que dinheiro, Simon?”
“Eles vinheram buscar aquele dinheiro que o sinhô prometeu”, gritou Simon.
“Mas eu disse para você que não iria dar nenhum dinheiro”, disse o Bayard
Velho. “O Simon disse a vocês que eu iria pagar?”, perguntou, dirigindo-se à
delegação.
“Que dinheiro?”, repetiu a senhorita Jenny. “Do que você está falando,
Simon?” O chefe da delegação começou a moldar o rosto para falar, mas foi
antecipado por Simon.
“Ora, coroné, o sinhô mesmo não disse pra dizer pros negro que o sinhô ia
cuidar de tudo?”
“Não falei nada disso”, retrucou irritado o Bayard Velho. “O que eu disse foi
que se quisessem jogá-lo na cadeia, que fossem em frente e fizessem isso. Foi
isso o que eu disse para você.”
“Mas coroné, o sinhô falou com todas as palavra. O sinhô deve de ter
esquecido. Tá aqui a sinhá Jenny que num me deixa mentir...”
“Não sei de nada”, atalhou a senhorita Jenny. “Esta é a primeira vez que
ouço falar disso. De quem é esse dinheiro, Simon?”
Simon olhou para ela com uma expressão sentida e reprovadora.
“Ele disse pra eu dizer pra eles que iria acertar tudo.”
“Macacos me mordam se disse isso”, berrou o Bayard Velho. “O que eu
disse foi que não iria pagar porcaria nenhuma. E também disse que se você
deixasse eles me aporrinharem com isso, eu ia arrancar a sua pele.”
“Num vou deixar eles porrinhar o sinhô, não”, respondeu Simon, num tom
tranquilizador. “É isso o que tô fazendo agora. Se o sinhô der o dinheiro pra eles,
eu e o sinhô a gente acerta tudo mais tarde.”
“Maldito seja eu se vou fazer isso; se vou deixar um negro preguiçoso que
não vale a comida que come...”
“Mas alguém tem que pagar pra eles”, sugeriu Simon pacientemente.
“Não é o certo, sinhá Jenny?”
“É, é o certo”, assentiu a senhorita Jenny. “Mas não sou eu que vou fazer
isso.”
“Sim sinhô, eles num tem dúvida de que alguém vai pagar. E se alguém não
calmar eles, eles vão me jogar na cadeia. E aí o que vocês todo vão fazer, sem
ninguém pra cuidar e dar comida pros cavalo, e pra limpar a casa e servir a
comida? Porque num me importo de ir pra cadeia, mesmo que aquele chão de
pedra num vai sê nada bom pros meus osso.” E traçou um quadro completo e
tocante, evocando princípios exaltados e cavalheirescos e uma abnegação
paciente.
O Bayard Velho bateu com os pés no chão.
“E quanto é?”
O líder inflou-se em sua sobrecasaca. “Irmão Mur”, disse ele, “você podia ler
o total dos emolumento que o antigo diácono Strother deve à futura Segunda
Igreja Batista em sua capacidade como tesoureiro do conselho da igreja?”
O irmão Moore desencadeou uma ligeira perturbação no fun do do grupo,
emergindo em seguida graças a diversas mãos prestativas — um franzino e
relutante negro retinto, trajando sombrias roupas escuras e excessivamente largas
— até o espaço aberto majestaticamente pelo pastor, que de algum modo
conseguiu atrair a atenção de todos. Depositou o chapéu no chão, diante dos pés,
e do bolso direito do casaco extraiu um lenço vermelho, uma calçadeira, um
naco de fumo de mascar e, segurando tudo com a mão livre, fez outra
exploração, com uma expressão de alarme leve e constrangida.
Em seguida colocou de volta os objetos, e do bolso esquerdo extraiu um
canivete, um palito de pau no qual estava enrolado um barbante imundo, um
pedacinho de arreio de couro preso a uma fivela enferrujada e aparentemente
inútil e, por fim, uma caderneta sebenta com os cantos das páginas dobrados. Ao
enfiar tudo de volta no bolso, deixou cair o arreio, e então se abaixou e o pegou;
em seguida, ele e o pastor mantiveram uma breve confabulação sussurrada.
Abriu então a caderneta e revirou as páginas, e continuou a folhear até que o
pastor inclinou-se sobre o ombro do outro, encontrou a página certa e apoiou o
dedo sobre ela.
“Quanto é, reverendo?”, perguntou com impaciência o Bayard Velho.
“O irmão Mur vai ler agora a quantia”, entoou o pastor. O irmão Moore fitou
a página com seu olhar transido e balbuciou algo com uma voz praticamente
incompreensível.
“Quanto?”, indagou o Bayard Velho colocando a palma em concha atrás da
orelha.
“Pede pra ele falá mais alto”, disse Simon. “Ninguém escuta o que tá
dizendo.”
“Mais alto”, ribombou o pastor, com apenas um laivo de impaciência.
“Sessenta e sete dólar e quarenta centavo”, pronunciou afinal o irmão Moore.
O Bayard Velho recostou em sua cadeira ruidosamente e praguejou por um longo
minuto, sob o olhar dissimulado e ansioso de Simon. Em seguida levantou-se,
saiu pisando forte pela varanda e entrou na casa, ainda xingando. Simon suspirou
e se descontraiu. A delegação voltou a se agitar, e o irmão Moore desvaneceu-se
rapidamente entre os seus membros mais distantes. O pastor, no entanto, ainda
mantinha sua atitude anterior de gravidade fatídica e ponderosa.
“O que aconteceu com o dinheiro, Simon?”, indagou curiosa a senhorita
Jenny. “Você estava com ele, não é?”
“Isso é o que eles diz”, respondeu Simon.
“E o que você fez com ele?”
“Está tudo bem”, Simon a tranquilizou. “Eu só apliquei ele, mais ou menos.”
“Não duvido nada disso”, assentiu ela secamente. “Aposto que nem chegou a
esfriar em sua mão. Eles bem que merecem perder isso pelo simples fato de
terem confiado em você. Em benefício de quem você o aplicou?”
“Bem, eu e o coroné, a gente já acertou isso”, disse Simon, já mais calmo,
“faz muito tempo.” O Bayard Velho voltou a passar ruidosamente pelo vestíbulo
e entrou na varanda, agitando um cheque na mão.
“Venha cá”, ordenou. O pastor chegou perto da mureta, pegou e dobrou o
cheque e o guardou no bolso. “E se vocês forem idiotas o suficiente para
entregar mais dinheiro nas mãos dele, não venham depois me cobrar, estão
entendendo?” Fulminou a delegação com o olhar; e depois fulminou Simon. “E
da próxima vez que roubar dinheiro e vier atrás de mim para devolvê-lo, vou
pessoalmente cuidar para que seja preso e processado. Agora tira essa negrada
daqui.”
A delegação já começava a se mexer em um movimento conjunto, mas o
pastor os interrompeu com um gesto imperioso da mão.
Voltou a fitar Simon. “Diácono Strother”, disse ele, “como ministro ordenado
da antiga Primeira Igreja Batista, e ministro reconvocado da futura Segunda
Igreja Batista, e também presidente dessa comissão, nomeio você de volta em
suas antiga capacidade como diácono na futura Segunda Igreja Batista. Amém.
Coroné Sartoris, senhora, bom dia.” Então virou-se e pastoreou sua delegação
para longe dali.
“Graça Deus, saiu esse peso da nossa cabeça”, disse Simon, aproximando-se
e sentando-se no degrau de cima, suspirando de alívio.
“E você não se esqueça do que eu disse”, alertou o Bayard Velho.
“Da próxima vez...”
Mas Simon estava apontando com a cabeça na direção tomada pelo conselho
da igreja. “Ora, ora”, disse, “o que o sinhô acha que eles pode querer mais?”
Pois a delegação fizera meia-volta e agora espiava hesitantemente do canto da
casa.
“Bem?”, indagou Bayard. “O que foi agora?”
Estavam tentando empurrar de novo até a frente o irmão Moore, mas este se
mostrou irredutível. Por fim o pastor falou.
“Ainda falta os quarenta centavo, pessoal.”
“O quê?”
“Ele está dizendo que o sinhô esqueceu os quarenta centavo”, gritou Simon.
Aí o Bayard Velho explodiu; a senhorita Jenny cobriu as orelhas com as mãos, e
a delegação revirou os olhos em temerosa admiração enquanto ele se exaltava e
alcançava píncaros magníficos, até que sua fúria desabou sobre Simon.
“Agora dê logo esses quarenta centavos e tira essa gente daqui”, berrou o
Bayard Velho. “E se deixar que voltem para cá outra vez, vou baixar o chicote na
carcaça de todos vocês!”
“Santo Deus, coroné, não tenho quarenta centavo, e o sinhô sabe disso. Eles
não pode deixar pra lá? Agora que receberam quase tudo?”
“Claro que você tem, Simon”, disse a senhorita Jenny. “Você ficou com meio
dólar ontem à noite, depois que encomendei aqueles sapatos para você.”
Simon voltou a olhar para ela com assombro dorido.
“Dê logo a eles”, ordenou o Bayard Velho. Lentamente Simon enfiou a mão
no bolso e de lá tirou meio dólar e o girou lentamente na palma da mão.
“Talvez vou precisar desse dinheiro, coroné”, protestou. “Acho que deviam
me deixar isso.”
“Dê logo o dinheiro!”, trovejou o Bayard Velho. “Acho que você pode muito
bem pagar pelo menos quarenta centavos disso.” Simon ergueu-se com
relutância e o pastor se aproximou.
“E o meu troco?”, exigiu Simon, que só soltou a moeda quando recebeu as
duas moedinhas de cinco centavos. Só então a delegação partiu de vez.
“Agora”, disse o Bayard Velho, “quero saber o que você fez com esse
dinheiro.”
“Bem, sinhô”, começou Simon prontamente, “a história foi assim. Eu
apliquei esse dinheiro...”
A senhorita Jenny se levantou.
“Santo Deus, vão remoer tudo isso de novo?” E os deixou na varanda.
Do quarto, onde se acomodou perto de uma janela ensolarada, ela ainda
podia ouvir os dois — a fúria tempestuosa do Bayard Velho e as esquivanças
suaves e plausíveis de Simon, crescendo e decrescendo no langoroso ar do dia do
Senhor.
Sobrou uma rosa, uma única rosa remanescente. Ao longo dos dias tristes e
mortos do final do verão, ela havia continuado a prosperar, e ainda que os ébanos
houvessem deixado tombar seus minúsculos sóis entre os galhos decorados por
lagartas, e o eucalipto, o bordo e a nogueira, se exibido por duas semanas
douradas e rubras, e a relva, onde os avôs dos gafanhotos acocoravam-se
indolentemente como taciturnos octogenários, tivesse sido por duas vezes
tracejada pela geada, e os ensolarados meios-dias recendessem a sassafrás, ela
ainda continuava viçosa — excessivamente madura agora, e um tanto
galantemente corada, como uma estrela decadente do teatro de variedades. Nessa
época, a senhorita Jenny trabalhava vestida com um suéter, e a pazinha de
jardinagem reluzia em sua luva suja de terra.
“É como algumas mulheres que conheci”, disse. “Não sabem quando se
retirar graciosamente e se tornarem avós.”
“Deixa ela aproveitar o verão até o fim”, protestou Narcissa, em seu vestido
de lã escuro. Também tinha uma pá, remexendo aqui e ali serenamente e sem
nada concluir, em contraste com a impaciência vigorosa e irritada da senhorita
Jenny. Era pior do que não fazer nada, pior até mesmo do que Isom, pois havia
desmoralizado Isom, que tácita e prontamente se transferira para a ala esquerda,
a ala passiva.
“Ela tem direito ao verão.”
“Tem gente que não se dá conta de quando acaba o verão”, retorquiu a
senhorita Jenny. “E um verão fora de época não é desculpa para uma
adolescência senil.”
“Não é senilidade, também.”
“Está bem. Um dia você vai ver.”
“Ah, um dia. Ainda não estou pronta para ser avó.”
“Você está indo muito bem.” Com a pá, a senhorita Jenny retirou com
cuidado e destreza um bulbo de tulipa, e depois removeu a terra agarrada às
raízes. “Parece que conseguimos acalmar o Bayard por enquanto”, prosseguiu.
“Creio que seria melhor batizá-lo de John dessa vez.”
“É mesmo?”
“É mesmo”, repetiu a senhorita Jenny. “Vamos chamá-lo de John. Ei, Isom!”
A descaroçadeira estava funcionando regularmente havia um mês agora,
abastecida com o algodão dos Sartoris e de outros fazendeiros no vale mais
além, e também dos pequenos sitiantes que plantavam nas encostas dos morros.
A propriedade dos Sartoris era cultivada pelo sistema de parceria. A maioria dos
colonos já colhera o algodão, e também o milho tardio; e nos fins de tarde, com
o veranico sobre a terra e uma antiga tristeza pungente como fumaça de madeira
queimada no ar parado, Bayard e Narcissa saíam de carro para passear ali onde,
ao lado de uma nascente na beira da mata, os negros levavam suas espiguetas e
produziam coletivamente o xarope de sorgo para o inverno. Um dos negros, uma
espécie de patriarca dos colonos, era dono de uma moenda e da mula que lhe
proporcionava a força motriz. Ele cuidava da moagem e supervisionava o
cozimento da seiva em troca de uma parte; quando Bayard e Narcissa ali
chegavam, a mula estava labutando em seu círculo monótono e paciente, as patas
farfalhando no bagaço ressecado, enquanto um dos netos do patriarca alimentava
a moenda com cana.
Uma volta atrás da outra, interminavelmente, ia a mula, colocando
delicadamente suas patas estreitas como as de uma corça sobre o farfalhante leito
de bagaço, seu pescoço meneando dócil como um pedaço de mangueira de
borracha na coelheira, com os flancos arranhados e as orelhas pendentes e sem
vida, e os olhos semicerrados dormitando malevolamente atrás de pálidas
pálpebras, aparentemente embaladas pela monotonia de seu próprio movimento.
Algum Homero das plantações de algodão deveria cantar a saga da mula e de sua
importância para o Sul. Foi ela, mais do que qualquer outra criatura ou coisa,
que, fiel à terra quando todo o resto cedia diante da onda inexorável dos
acontecimentos, impermeável às condições que abateram os corações humanos
devido a sua rancorosa e paciente preocupação com o presente imediato,
resgatou o Sul prostrado sob o tacão de ferro da Reconstrução e voltou a
infundir-lhe orgulho por meio da humildade e da coragem na superação da
adversidade; que conseguiu o que era quase impossível, a despeito de
dificuldades desesperadoras, graças a uma paciência absoluta e vingativa. Não se
assemelha nem à mãe e nem ao pai, e jamais terá filhos e filhas; vingativa e
paciente (é fato comprovado que é capaz de labutar de bom grado e com
paciência durante uma década, em troca do privilégio de escoicear uma única
vez o seu dono); solitária mas sem altivez, autônoma mas sem vaidade; até sua
voz é um escárnio. Proscrita e pária, não tem amigo, esposa, amante ou
namorado; solitária e imaculada, não habita coluna nem gruta no deserto,
tampouco é atormentada por tentações, flagelada por sonhos ou assaltada por
visões; a fé, a esperança e a caridade não fazem parte de seu mundo.
Misantrópica, ela se esfalfa durante seis dias da semana em prol de uma criatura
que odeia, presa com correias a outra criatura que despreza, e passa o sétimo dia
dando e recebendo coices de seus companheiros. Mal compreendida até mesmo
por aquela criatura, o negro que a conduz, cujos impulsos e processos mentais
mais de perto se assemelham aos dela, a mula realiza ações incompreensíveis em
ambientes estranhos; ela proporciona alimento não apenas para uma raça, mas
para toda uma forma de comportamento; dócil, seu legado é cozido e descolado
de si, juntamente com sua alma, em uma fábrica de cola. Feia, incansável e
perversa, não é movida por razão nem adulação, tampouco pela promessa de
recompensa; ela realiza suas tarefas humildes e monótonas sem se queixar, e tem
como paga apenas pancadas. Em vida, é arrastada pelo mundo, alvo da zombaria
geral; não é chorada, nem honrada, nem cantada; seu esqueleto desajeitado e
acusador se desfaz alvacento em meio a latas enferrujadas, cacos de louça e
pneus velhos em encostas solitárias enquanto sua carne é levada para as alturas
azuladas nas garras dos abutres.
Enquanto se aproximavam, os gemidos e estalidos da moenda eram o
primeiro sinal, a menos que o vento estivesse soprando na direção deles; em
seguida notavam o aroma pungente e ligeiramente excitante da fermentação e do
melaço borbulhante. Bayard apreciava muito esse cheiro quando se
aproximavam de carro e lá ficavam por um tempo, enquanto o moleque olhava
de esguelha para eles alimentando a moenda, contemplando a mula paciente e o
velho debruçado sobre o caldeirão fervente. Às vezes, Bayard descia e
aproximava-se para conversar com o velho, deixando Narcissa no carro, envolta
nos odores maduros do ano que findava e em toda a sua complexa e vaga
tristeza, fitando Bayard e o velho negro — um deles esguio e alto e fatalmente
jovem, o outro vergado pelo tempo, e o espírito dela expandia-se em ondas
constantes e serenas, circundando-o mesmo que ele não se desse conta.
Então ele voltava e sentava ao seu lado, e ela tocava o pano rústico da roupa
dele, mas tão de leve que ele nem percebia, e aí retornavam com o carro pelo
caminho vago e irregular, por entre o mato exuberante, e mais além, acima das
robínias e dos carvalhos, a casa branca, singela e imensa e constante, e o disco
alaranjado da lua da colheita erguendo-se acima das derradeiras colinas, como
um queijo maduro.
Por vezes, iam lá depois de escurecer. Então a moenda estava ociosa, seu
longo braço imóvel sobre a cena iluminada pela fogueira.
A mula ruminava no estábulo, ou empurrava e esfregava o focinho na
manjedoura vazia, ou dormia em pé, sem pensar no amanhã; e eram muitas as
sombras que se moviam, delineadas pelo lume. Os negros agora estavam
reunidos: os velhos e as mulheres acomodados em estalejantes feixes de cana ao
redor do fogo que um deles alimentava com o bagaço até fazer rodopiar sua fúria
perfumada, lambendo os galhos acima, tornando ainda mais douradas as
cintilantes folhas douradas; e os rapazes e as moças e as crianças acocorados e
imóveis como animais, com o olhar perdido na fogueira. Às vezes eles cantavam
— tremidos acordes sem palavras nos quais o queixoso tom menor mesclava-se
ao baixo langoroso em um suspense imemorial e melancólico, seus rostos
escuros e sérios, inclinados sobre as chamas com lábios imóveis.
Mas quando chegavam os brancos cessava a cantoria, e ficavam sentados ou
deitados em torno da fogueira na qual fervilhava o caldeirão enegrecido,
conversando em murmúrios entrecortados em que despontava um contentamento
triste, enquanto em leitos ensombrecidos entre os secos e sussurrantes pés de
cana os rapazes e as moças cochichavam em meio a risos abafados.
Sempre um deles, às vezes ambos, parava no escritório onde estavam o
Bayard Velho e a senhorita Jenny. Agora troncos ardiam na lareira e eles ficavam
sentados diante de seu fulgor — a senhorita Jenny sob a lâmpada com o seu
jornal escandaloso; o Bayard Velho com os pés enchinelados e apoiados na
lareira, a cabeça envolta em fumaça, com o velho perdigueiro sonhando
espasmodicamente ao lado de sua cadeira, talvez revivendo altivas proezas do
passado, ou, ainda mais distantes, os dias magros e desajeitados de sua
juventude, quando o mundo estava repleto de aromas que enlouqueciam o seu
sangue e o orgulho ainda não lhe ensinara como se conter; Narcissa e Bayard
ficavam entre eles — Narcissa também sonhando à luz do fogo, séria e tranquila,
e o jovem Bayard fumando cigarros em um sossego forçado e temperamental.
Por fim o Bayard Velho atirava o charuto na lareira e colocava os pés no
chão, e o cão despertava e levantava a cabeça e piscava e bocejava com tal
deliberação boquiaberta que Narcissa, observando-o, invariavelmente bocejava
por sua vez.
“Então, Jenny?”
A senhorita Jenny colocava de lado o jornal e se erguia. “Deixem que
estou...”, dizia Narcissa, “já estou indo.” Mas a senhorita Jenny nunca lhe
permitia ir, e logo depois voltava com uma bandeja e três copos, e o Bayard
Velho destrancava a escrivaninha e de lá retirava o decantador com tampo de
prata e preparava três grogues com uma meticulosidade de ritual.
Uma vez Bayard a convenceu a vestir calça de brim e botas e a levou numa
caçada de gambás. Caspey, com uma lamparina listrada e um chifre de boi
pendurado no ombro, Isom, com um saco de aniagem e um machado, e quatro
cães inquietos e vagos esperavam por eles na porteira do pátio, e logo partiam,
por entre pilhas fantasmagóricas de espigas de milho, onde todo dia Bayard
espantava um bando de codornizes, em direção ao mato.
“Por onde vamos começar hoje, Caspey?”, perguntou Bayard.
“Pros lados de trás do tio Henry. Tem um naquela vinha atrás do armazém de
algodão. O Blue achou ele lá embaixo noite passada.”
“E como você sabe que ainda está lá, Caspey?”, perguntou Narcissa.
“Ele tá lá, sim”, respondeu Caspey confiante. “Tá lá agorinha mesmo, vendo
essa lanterna com os olho esbugalhado, e as orelha em pé pra ver se os cachorro
tão com a gente.”
Passaram por cima de uma cerca e Caspey se abaixou e pôs a lanterna no
chão. Os cães se alvoroçaram e se enrodilharam em volta de suas pernas,
farejando e latindo roucamente uns para os outros ao serem libertados das
correias. “Ei, Ruby! Fica quieta aí. Toma tento, sua lambedora de chão.” Eles
choramingaram e saíram correndo com os olhos úmidos cintilando; logo em
seguida, desapareceram silenciosamente na escuridão. “Vamo dá um tempo pra
eles”, Cas pey disse, “pra que vejam se ele ainda tá lá.” Do meio da escuridão
mais adiante, um cão latiu três vezes num tom agudo. “É o mais novo”, Caspey
disse. “Só tá se mostrando. Num farejou nada.”
Sobre eles, as estrelas singravam vagamente pelo céu enevoado; o ar ainda
não esfriara; a terra ainda era cálida ao toque. Permaneceram no oásis de luz da
lamparina seguro em um mundo dotado de uma só dimensão, uma vaga cisterna
de escuridão preenchida pela débil luminosidade e encimada pelo firmamento
interminável de estrelas esfarrapadas. Da lamparina fumegante vinha um leve
cheiro de calor. Caspey levantou-a e virou o pavio para baixo, e voltou a colocá-
la junto aos pés. Então, da escuridão ouviu-se um latido solitário e ressonante,
baixo e grave.
“Tá lá”, disse Isom.
“É a Ruby”, concordou Caspey, erguendo a lamparina. “Ela achou ele.” O
cão mais jovem latiu de novo, com furiosa histeria; em seguida, ouviu-se um
único e grave ganido. Narcissa passou o braço pelo de Bayard. “Num tem
pressa”, Caspey disse a ela. “Ainda não encurralaram ele. Eia. Vamo lá,
cachorrada.” O cão mais novo havia se calado, mas ainda de vez em quando a
outra dava o seu solitário latido ressonante, e aí saíram atrás dela. “Vamo lá,
cachorrada!”
Avançaram com dificuldade, tropeçando nos sulcos esmaecidos dos arados,
seguindo a lamparina sacolejante de Caspey, e a escuridão de repente se
acentuou com quatro latidos breves e nítidos.
“Pegaram ele”, disse Isom.
“É isso mesmo”, concordou Caspey. “Vamos lá. Guenta firme, cachorrada!”
Passaram então a trotar, Narcissa agarrada ao braço de Bayard, metendo-se pela
relva espessa, passando por outra cerca e seguindo por entre as árvores. Olhos
reluziam fugazmente desde a escuridão à frente; outra rajada de latidos foi
entremeada de choramingos tensos e ansiosos, e do meio das sombras semi-
iluminadas os cães saltaram entre eles. “Ele tá lá adiante”, comentou Caspey.
“O velho Blue já achou.”
“Tá lá também o cachorro do tio Henry”, disse Isom.
Caspey grunhiu. “Sabia que ele vinha. Ele não dá conta mais de um gambá,
mas é só ele ouvir outro cachorro sair atrás de um...”
Colocou então a lamparina na cabeça e fitou o emaranhado de vinhas novas,
enquanto Bayard tirava do bolso uma lanterna e a apontava para o mesmo lado.
Os três cães mais velhos e o antiquíssimo e decrépito animal do tio Henry
formavam um círculo tenso em volta da árvore, choramingando ou latindo em
rajadas breves e espaçadas, mas o cão mais novo não parava de ladrar,
enlouquecido e histérico.
“Chuta o filhote pra ele parar com isso”, ordenou Caspey.
“Ginger, cala a boca”, gritou Isom. Colocou o machado e o saco no chão,
agarrou o filhote e o prendeu entre os joelhos. Seguidos por Narcissa, Caspey e
Bayard moveram-se lentamente em torno da árvore, entre os cães ansiosos.
“Tá cheio de trepadeira grossa lá no alto...”, disse Caspey.
“Lá está ele”, disse de repente Bayard. “Achei.” Ele imobilizou a lanterna,
Caspey se aproximou por trás e espiou por sobre o ombro dele.
“Onde?”, perguntou Narcissa. “Você consegue vê-lo?”
“É isso mesmo”, concordou Caspey. “Ele tá lá. A Ruby não engana. Quando
diz que tá lá, tá lá.”
“Onde ele está, Bayard?”, repetiu Narcissa. Ele a puxou para a sua frente e
moveu a lanterna sobre a cabeça dela, voltada para a árvore, e, em meio aos
ramos emaranhados, dois pontos avermelhados de fogo, separados por uma
distância menor que um palito de fósforo, reluziram, piscaram e sumiram, e
voltaram a brilhar de novo.
“Tá se mexendo”, disse Caspey. “É um filhote. Sobe lá e derruba ele, Isom.”
Bayard manteve a lanterna voltada para os olhos do animal e Caspey colocou no
chão a lamparina e juntou os cães ao seu redor. Isom escalou a árvore e
desapareceu na massa de galhos, mas eles conseguiam acompanhar seu avanço
pelo tremor dos galhos e por suas exclamações resfolegantes enquanto ameaçava
o animal com uma mescla de adulações e súplicas.
“Ah”, grunhiu ele, “num vou machucar você. Num vou fazer nada com você,
só jogar você na panela. Olha aí, sinhô, já tô chegando lá.”
Mais comoção; aí o animal parou e podiam ouvi-lo avançando
cuidadosamente pelos galhos. “Aí tá ele”, gritou de repente. “Segura aí os
cachorro agora.”
“É filhote, não é?”, perguntou Caspey.
“Não dá pra dizer. Num consigo ver nada, só a cara dele. Cuidado com os
cachorro.” A copa da árvore explodiu em uma agitação violenta e incessante;
Isom berrava cada vez mais alto enquanto chacoalhava os galhos. “Olha aí, aí
vai ele”, gritou, enquanto algo despencava lerda e relutantemente de um galho
para outro galho invisível, e ali ficava; os cães, então, levantaram um clamor
medonho. A criatura caiu de novo, e a lanterna de Bayard seguiu o objeto
embolotado que se esborrachou com um baque surdo no chão e sumiu de
imediato entre o redemoinho de cães.
Caspey e Bayard saltaram entre eles aos gritos e por fim conseguiram afastá-
los, e Narcissa viu a criatura no foco da lanterna, deitada de lado com os dentes
arreganhados, os olhos fechados e as mãos rosadas e infantis dobradas junto ao
peito. Ela contemplou a criatura imóvel com piedade e nítida repugnância — um
paradoxo como aquele, o sorriso de lobo e caveira, aquelas mãos minúsculas
com aparência humana, e a cauda comprida como a de um rato. Isom saltou da
árvore e Caspey entregou ao sobrinho os três cães excitados que segurava, e
então pegou o machado e, sob o olhar curioso e cada vez mais relutante de
Narcissa, colocou a lâmina do machado no pescoço da criatura, apoiou o pé na
extremidade do cabo, agarrou a cauda do animal e... Ela se virou e saiu correndo,
a mão na boca.
Mas o muro de escuridão a interrompeu, e ela parou tremendo e um pouco
enojada, observando-os enquanto se moviam em torno da lamparina. Em
seguida, Caspey mandou embora os cães, dando ao octogenário do tio Henry um
vigoroso e sonoro chute que o mandou para casa com ganidos perplexos de gelar
o sangue, e Isom jogou o saco com o animal sobre o ombro e Bayard virou-se à
procura dela.
“Narcissa?”
“Aqui”, respondeu ela.
Ele foi até lá.
“Um já foi. Temos que pegar uma dúzia esta noite.”
“Ó, não”, estremeceu ela. “De jeito nenhum.” Ele olhou para ela; em
seguida, virou o foco da lanterna para o rosto de Narcissa. Ela ergueu a mão e o
afastou.
“O que houve? Você não está cansada, está?”
“Não.” E ela prosseguiu: “É que... Vamos, eles já foram.”
Caspey os conduziu pelo mato. Agora caminhavam em meio ao farfalhar
ressequido das folhas e à crepitação da vegetação rasteira.
As árvores assomavam à luz da lamparina; acima deles, entre os ramos que
se afinavam, as estrelas boiavam no céu silencioso e vago.
Os cães seguiam à frente, e eles avançaram por entre os avultados troncos de
árvores, escorregando em valetas onde a areia reluzia à luz da lanterna, e onde a
sombra de tesoura das pernas de Caspey era imensa, esforçando-se para abrir
caminho entre as urzes e subir o barranco.
“Melhor a gente se afastar do leito do riacho”, sugeriu Caspey.
“Eles pode topar com um guaxinim e aí não voltam mais pra casa hoje.”
Enveredou de novo rumo ao campo aberto; saíram da mata e cruzaram um
campo de carriços, recendendo a sol e poeira, no qual a lamparina ficou
ligeiramente aureolada. “Vamo lá, cachorrada.”
Entraram outra vez na mata. Narcissa começava a ficar cansada, mas Bayard
seguia em frente completamente esquecido de tal possibilidade, e ela o seguiu
sem se queixar. Por fim, a alguma distância, veio o latido solitário e ressonante.
Caspey estacou. “Vamo ver pra onde vai.” Ficaram parados no escuro, naquele
triste e levemente frio declínio do ano, entre as árvores agonizantes, com os
ouvidos atentos.
“Eia”, entoou langorosamente Caspey. “Vai lá pegar ele.”
O cão respondeu com um latido, e seguiram adiante, vagarosamente, parando
de tempos em tempos para ouvir. O cão ladrou; agora havia duas vozes, e
pareciam se mover em um círculo que cruzava o caminho deles. “Eia”, entoou
Caspey, sua voz afastando-se em ecos decrescentes entre o arvoredo. Seguiram
adiante. De novo os cães latiram, à distância de meio círculo em relação ao
ponto onde haviam dado o alerta inicial. “Tá levando eles de volta ao lugar onde
tava”, disse Caspey. “Melhor a gente esperar até ele ficar encurralado.
Colocou a lamparina no chão e se acocorou ao lado, e Isom se desfez de seu
fardo e também se agachou, e Bayard sentou-se apoiado a um tronco e puxou
Narcissa para perto. Os cães ladraram de novo, mais próximos. Caspey fixou o
olhar na escuridão, na direção do som.
“Acho que pegaram um guaxinim”, disse Isom.
“Pode ser. Guaxinim da serra.”
“Indo praquela árvore oca, não tá?”
“Parece, pelo barulho.” Ficaram ouvindo, imóveis. “Temos o que fazer,
então”, acrescentou Caspey. “Eia.” Agora o ar esfriava pouco a pouco, à medida
que o chão perdia o calor do sol, e Narcissa aproximou-se de Bayard. Ele tirou
um maço de cigarros do bolso da jaqueta, deu um para Caspey e acendeu outro
para si. Isom acocorou-se sobre os calcanhares, os olhos revirando e exibindo o
branco à luz da lamparina.
“Dá um pra mim, por favor, sinhô”, disse.
“Você num tem nada que ficar fumando, moleque”, disse Caspey para ele.
Mesmo assim, Bayard deu-lhe um cigarro, e ele se agachou esguio sobre as
coxas, segurando o tubo branco na desconfiada mão escura. Ouviram então o
ruído de algo correndo esgueirando-se na folhagem atrás deles, e um ganido
tenso, e o filhote de cão apareceu na luz e aproximou-se choramingando, um
brilho desconfiado nos olhos, e se enroscou na perna de Caspey. “O que foi?”,
disse Caspey, afagando a cabeça do animal. “Alguma coisa assustou você lá?” O
filhote ajoelhou o corpo jovem e desajeitado, gemeu e esfregou choroso o
focinho na mão de Caspey. “Deve ter topado com um urso lá embaixo, disse
Caspey. “E os outro cachorro não ajudaram você a pegar ele?”
“Coitadinho”, disse Narcissa. “Ele ficou mesmo assustado, Caspey? Venha
cá, cãozinho.”
“Os outro cachorro foram embora e deixaram ele lá”, respondeu Caspey. O
filhote agitou-se timidamente em torno dos joelhos dele; depois ergueu-se sobre
as patas traseiras e lambeu seu rosto.
“Sai já daqui!”, exclamou Caspey, e atirou longe o cachorrinho. Este caiu
sem jeito nas folhas secas e se endireitou, e naquele momento os cães voltaram a
ladrar, os latidos ressoando langorosos e melodiosos na escuridão, e o filhote
rodopiou e saiu correndo, latindo com estridência na direção do som. Os cães
latiram de novo; Isom e Caspey ouviram atentos. “Sim, sinhô”, repetiu Caspey,
“tá mirando naquela árvore lá embaixo.”
“Você conhece esse lugar como se fosse o seu quintal, não é, Caspey?”, disse
Narcissa.
“Sim sinhora, num tem como não saber. Já passei por aqui uma centena de
vezes desde que nasci. Nhô Bayard também conhece isso de trás pra frente. Ele
caça por aqui tem o mesmo tempo que eu, mais ou menos. Ele e o nhô Johnny,
os dois. Sinhá Jenny me mandou vir com eles desde que ganharam a primeira
espingarda; eu e aquela espingarda de um cano que eu tinha e precisava amarrar
com barbante. Lembra daquela com um cano só, nhô Bayard? Mas atirava assim
mesmo. Perdi a conta de tanto esquilo que matamos nesse mato. E também
coelho.” Bayard estava recostado na árvore. Contemplando a copa das árvores e,
além, o céu tranquilo, o cigarro queimando aos poucos entre os dedos. Ela fitou
o perfil desolado dele, delineado pelo brilho da lamparina, e moveu-se para mais
perto. Mas ele não reagiu, e ela pousou a mão sobre a dele. Esta também estava
fria e mais uma vez ele a havia trocado pelas alturas solitárias do seu desespero.
Caspey voltara a falar, em sua voz lenta e sem consoantes, com um laivo de
tristeza langorosa. “O nhô Johnny sim é que sabia atirar. Lembra daquela vez
que eu e o sinhô e ele estava...”
Bayard se ergueu. Soltou o cigarro e o amassou cuidadosamente com o
calcanhar. “Vamos lá”, disse. “Eles não estão indo para a árvore.” Ajudou
Narcissa a ficar em pé, virou-se e saiu andando. Caspey levantou-se, tirou do
ombro o corno e o levou à boca. O som reboou em torno, grave, nítido e
prolongado; depois foi se atenuando em ecos e sumiu de novo no silêncio, sem
deixar nenhuma ondulação na escuridão imóvel.
Era quase meia-noite quando deixaram Caspey e Isom no barraco deles e
tomaram o caminho de volta para casa. Logo assomou o paiol ao lado deles e a
casa entre as árvores mais raras, destacando-se do céu nublado. Ele abriu o
portão, ela passou, ele a seguiu e, quando o fechou, virou-se, deu com ela ao
lado e parou. “Bayard”, murmurou ela, apoiando-se contra ele. Colocou os
braços em torno de Narcissa e assim ficou, fitando o céu por cima da cabeça
dela. Ela tomou o rosto dele entre as mãos e o puxou para baixo, mas seus lábios
estavam frios, e ela sentiu um gosto de fatalidade e ruína, e ficou agarrada nele
mais um pouco, com a cabeça encostada em seu peito.
Depois não mais voltou a acompanhá-lo. Por isso ele ia sozinho, retornando
à casa em algum momento entre a meia-noite e a aurora, despindo-se em silêncio
no escuro e esgueirando-se cuidadosamente na cama. Mas quando se aquietava
ela o tocava e pronunciava-lhe o nome na escuridão ao lado, e voltava-se para
ele, cálida e lânguida de sono. E assim ficavam deitados, agarrados um ao outro
na escuridão que afastava temporariamente o desespero dele e aquela sina de que
não podia se esquivar.
2.
“Bem”, disse animadamente a senhorita Jenny, por sobre a sopa, “agora que
sua garota se foi e o deixou, você tem tempo para sair e visitar os parentes, não
é?”
Horace abriu um leve sorriso. “Para dizer a verdade, só saí porque queria
comer algo. Não creio que nem uma mulher em dez tenha alguma aptidão para
os serviços domésticos, mas com certeza o meu lugar não é no lar.”
“O que você quer dizer”, corrigiu a senhorita Jenny, “é que nem sequer um
homem em dez tem o bom senso de se casar com uma cozinheira decente.”
“Talvez tenham tanto bom senso e consideração pelos outros que não se
dispõem a estragar as cozinheiras decentes”, sugeriu ele.
“É mesmo”, disse o jovem Bayard, “até uma cozinheira deixa de trabalhar
quando se casa.”
“Taí uma verdade“, concordou Simon, recostado no aparador numa pose
ligeiramente rebuscada, com uma camisa limpa e sem colarinho e calças
domingueiras (pois era o dia de Ação de Graças), e recendendo a uísque, além de
seus odores normais. “Tive que achar pra Euphrony quatro novas casa pra ela
cozinhar nos dois primeiro mês de casado.”
“Simon deve ter casado com a cozinheira de alguém”, comentou o doutor
Peabody.
“Acho melhor casar com a cozinheira de alguém do que com a esposa de
alguém”, retrucou a senhorita Jenny.
“Senhorita Jenny!”, reprovou Narcissa. “Não diga mais nada!”
“Lamento”, disse de imediato a senhorita Jenny. “Não estava me referindo a
você, Horace; foi só algo que me ocorreu. Estava me referindo a você, Loosh
Peabody. Só porque come aqui todo dia de Ação de Graças e de Natal há
sessenta anos, acha que pode vir à minha casa e zombar de mim, não é?”
“Chega, senhorita Jenny!”, repetiu Narcissa. Horace baixou a colher, e a mão
de Narcissa encontrou a dele sob a mesa.
“O que houve?”, perguntou o Bayard Velho, com o guardanapo preso à
cintura, colocando a colher na mesa e a mão em concha atrás da orelha.
“Nada”, disse-lhe o jovem Bayard. “Tia Jenny e Peabody estão brigando de
novo. Acorda, Simon.” Simon despertou e começou a retirar os pratos de sopa,
mas com lerdeza e ainda atento à altercação.
“É isso”, investiu a senhorita Jenny, “só porque aquele velho idiota do Will
Falls passou graxa de eixo em uma verruguinha no rosto dele sem o matar, você
tem de ficar se pavoneando, todo inchado como um cão raivoso. O que você teve
a ver com isso? Talvez tenha feito aquilo aparecer no rosto dele?”
“Simon, você não tem por acaso um pedaço de pão ou outra coisa que a
senhorita Jenny possa colocar na boca?”, perguntou com bonomia o doutor
Peabody. A senhorita Jenny o fulminou com o olhar e depois afundou na cadeira.
“Simon! Está dormindo?” Simon tirou os pratos e os levou embora, com os
convivas evitando se entreolhar enquanto a senhorita Jenny, atrás de sua
barricada de copos, vasilhas, jarras e outras coisas, continuava a cuspir fogo e
enxofre.
“Will Falls”, repetiu o Bayard Velho. “Jenny, diga ao Simon, quando arrumar
aquele cesto, que venha ao meu escritório; tenho de colocar algo nele.” Era o
frasco com quase um litro de uísque que, nos dias de Ação de Graças e de Natal,
ele acrescentava ao pacote destinado ao velho Falls, e que este distribuía às
colheradas até o fim entre seus velhos e desvalidos companheiros;
invariavelmente, o Bayard Velho a lembrava de dizer a Simon algo que nenhum
dos dois havia esquecido.
“Está bem”, replicou ela. Simon reapareceu com um enorme bule de café de
prata, depositou-o ao lado da senhorita Jenny e retirou-se para a cozinha.
“Quem vai querer café agora?”, perguntou a todos. “Bayard é tão incapaz de
comer sem tomar um café quanto de voar. Está servido, Horace?” Este recusou e,
sem olhar para o doutor Peabody, ela disse: “Imagino que você precise tomar um
pouco, não é?”
“Se não for incômodo”, respondeu ele com afabilidade. Ele piscou para
Narcissa e adotou uma expressão de lúgubre circunspecção. A senhorita Jenny
serviu duas xícaras, e Simon surgiu com uma imensa travessa equilibrada no alto
de modo galante e precário, colocando-a diante do Bayard Velho com um
magnífico floreio.
“Santo Deus, Simon”, disse o jovem Bayard, “onde você conseguiu uma
baleia nesta época do ano?”
“Isso sim é que é peixe, sim sinhô”, concordou Simon. Era um peixe que
media quase um metro, e largo como uma sela; exibia uma viva coloração rubra
e estava de boca aberta sobre a travessa com um ar de jovialidade atrevida e
desenfreada.
“Que desgraça, Jenny”, comentou o Bayard Velho com mau humor, “para
que você mandou preparar essa coisa? Quem vai querer forrar o estômago com
peixe em novembro, com a despensa cheia de gambá, peru e esquilo?”
“Há mais gente à mesa além de você”, retrucou ela. “Se não quiser, não
prove. Sempre temos um prato de peixe em casa”, acrescentou ela.
“Mas é impossível fazer com que esses roceiros do Mississippi comam outra
coisa além de pão e carne, nem que seja para lhes salvar a vida.”
Simon colocou uma pilha de pratos diante do Bayard Velho. Depois levou a
bandeja até a senhorita Jenny, que ali colocou duas xícaras de café, e ele em
seguida as serviu ao Bayard Velho e ao doutor Peabody. A senhorita Jenny serviu
uma xícara para si mesma, e Simon passou-lhe o açúcar e o creme de leite.
Ainda resmungando alto, o Bayard Velho trinchou o peixe.
“Nunca vi nada de errado em comer peixe, seja qual for a época do ano”,
comentou o doutor Peabody.
“Você não veria mesmo”, retrucou a senhorita Jenny. De novo ele piscou
exageradamente para Narcissa.
“A única coisa”, prosseguiu ele, “é que prefiro eu mesmo pescá-los, no meu
próprio lago. Os meus peixes são mais nutritivos.”
“Ainda tem o lago?”, indagou o jovem Bayard.
“Tenho. Mas a pesca ali não foi muito boa neste ano. Abe ficou gripado no
inverno passado e desde então vai lá mais para dormir, e tenho de ficar
esperando que ele acorde para tirar o peixe do anzol e preparar a outra isca. Por
isso tive a ideia de amarrar um barbante à perna dele e prender a outra ponta no
banco, e assim, quando noto uma mordida no anzol, só preciso me virar e dar um
puxão no barbante para acordá-lo. Você precisa levar sua esposa lá um dia,
Bayard.
Ela nunca foi ao meu lago.”
“Você não conhece?”, Bayard perguntou a Narcissa.
Ela não conhecia.
“Ele colocou bancos em toda a volta, com apoios para os pés, e um parapeito
com a altura exata para apoiar a vara, e tem um negro para cada pescador,
encarregado de preparar o anzol e tirar o peixe. Não sei por que você fica
sustentando todos aqueles negros.”
“Bem, tenho eles há tanto tempo que nem sei mais como me livrar deles, a
menos que os afogasse todos. O difícil mesmo é alimentar aquela cambada. Tudo
o que consigo ganhar vai nisso. Se não fosse por eles, há muito teria me
aposentado. É por isso que como fora sempre que posso: toda vez que aproveito
uma refeição de graça, é o mesmo que meio dia de folga para um trabalhador.”
“E quantos o senhor tem?”, perguntou Narcissa.
“Não sei dizer com exatidão”, respondeu ele. “Tenho seis ou sete registrados,
mas não faço ideia de quantos surgiram e foram ficando. E a cada um ou dois
dias vejo um novo por lá.”
Simon o observava absorto.
“Nhô num tem um lugarzinho a mais pra mim, tem, doutor?”, perguntou.
“Aqui me esfalfo o dia todo, dando de comer pra eles e o resto.”
“Você não se importa de comer peixe frito e verdura todo dia?”, perguntou-
lhe solenemente o doutor Peabody.
“Bem, sinhô”, hesitou Simon, “sobre isso num tenho muita certeza, não. Eu
me fartei de peixe uma vez, quando jovem, e desde aí peixe nunca mais caiu
bem no meu estômago.”
“Lá em casa é só isso que temos para comer.”
“Chega, Simon”, a senhorita Jenny o interrompeu. Simon estava recostado
imóvel no aparador, fitando o doutor Peabody com um assombro curioso.
“E o sinhô fica com esse peso só com peixe frito e verdura? Pessoal, eu ia
virar um saco de osso depois de comer só isso duas semanas, num tenho
nenhuma dúvida.”
“Simon!” A senhorita Jenny levantou a voz rispidamente. “Loosh, por que
não o deixa em paz, de modo que possa fazer suas coisas?”
Simon saiu abruptamente de seu transe e retirou a travessa com o peixe. Sob
a mesa Narcissa voltou a deslizar a mão na de Horace.
“Deixe Peabody em paz, tia Jenny”, disse o jovem Bayard, e tocou o braço
do avô. “O senhor não consegue fazer com que ela pare de atormentá-lo?”
“O que ele fez, Jenny?”, perguntou o Bayard Velho. “Não está comendo?”
“Nenhum de nós vai conseguir comer se ele ficar aí conversando com o
Simon sobre peixe frito e verdura”, replicou a senhorita Jenny.
“Seja boazinha e não o trate assim, senhorita Jenny”, disse Narcissa.
“Bem, até que isso é motivo de satisfação para mim”, comentou o doutor
Peabody, “o fato de você não ter me aceitado quando eu tive uma chance. Uma
vez eu pedi Jenny em casamento”, contou.
“Seu velho mentiroso e decrépito”, disse a senhorita Jenny, “você nunca fez
nenhum pedido.”
“Ah, fiz, fiz sim. Só que eu fiz em nome de John Sartoris. Ele disse que
estava tendo mais problemas do que conseguia lidar com a política fora de casa.
E, sabem...”
“Loosh Peabody, você é o maior mentiroso que existe no mundo!”
“...que eu quase consegui convencê-la por um tempo? Foi naquela primeira
primavera quando floresceram as sementes que ela trouxe da Carolina, era lua
cheia e estávamos no jardim, havia um sabiá...”
“Não é nada disso”, gritou a senhorita Jenny. “Nunca houve...”
“Basta ver a cara dela, se acham que estou mentindo”, disse o doutor
Peabody.
“Olha o rosto dela”, ecoou rudemente o jovem Bayard. “Está toda
vermelha!”
E de fato ela estava toda ruborizada, e suas bochechas eram como bandeiras,
mas a cabeça ainda se mantinha ereta acima do riso zombeteiro. Narcissa
levantou, aproximou-se dela e colocou o braço em seus ombros empertigados e
altivos. “Parem já com isso”, disse ela. “Vocês têm mais é que se considerar
muito sortudos se qualquer uma de nós jamais aceitar casar com vocês, e
lisonjeados mesmo quando recusamos.”
“Eu me sinto lisonjeado”, replicou o doutor Peabody, “ou não seria hoje
viúvo.”
“E quem não seria viúvo, com essa cabeça tão grande quanto a de um javali e
se alimentando de peixe frito e folha de nabo?”, disse a senhorita Jenny. “Vá se
sentar, querida. Nenhum homem do mundo me mete medo.”
Narcissa voltou a seu lugar e Simon ressurgiu, agora seguido por Isom, e
durante os minutos seguintes circularam incessantemente entre a cozinha e a sala
de jantar trazendo um assado de peru, um presunto defumado, um prato de
codornas e outro de esquilos, um gambá cozido acompanhado de batata-doce,
abóbora e beterraba em conserva, batata, arroz e canjica, e biscoitos variados,
pães de milho em forma de palitos, compotas de morango e pera, geleias de
marmelo e maçã, mirtilos no vapor e pêssegos em calda.
Em seguida, deixaram de falar e passaram a comer, de vez em quando
lançando olhares uns para os outros através da mesa em uma cálida atmosfera de
cordialidade e aromas vaporosos. De tempos em tempos, Isom trazia pães
quentes, enquanto Simon supervisionava o campo um tanto como César deve ter
feito ao se debruçar sobre a Gália recém-conquistada, ou o próprio Senhor Deus
quando contemplou seus últimos experimentos químicos e viu que eram bons.
“Depois disso, Simon”, disse suspirando o doutor Peabody, “imagino que
posso achar um lugarzinho para você e conseguir-lhe vez ou outra um pouco de
carne.”
“Acho que sim”, concordou Simon, observando-os como um general com
olhos de águia, pronto para enviar tropas de reserva aos pontos mais ameaçados,
oferecendo-lhes mais comida a todo instante. No entanto, até mesmo o doutor
Peabody reconheceu-se derrotado depois de um tempo, e então Simon trouxe
três tipos de torta, um pequeno e letal pudim de ameixa e um bolo
engenhosamente assado com uísque, nozes e frutas, exalando arrebatadores
aromas celestiais, traiçoeiros e fatais como o pecado; por último, com um ar
sibilino e solenemente profundo, trouxe uma garrafa de vinho do porto. O sol se
punha preguiçosamente no Oeste fulgurante, incidindo obliquamente pelas
janelas e sobre a prataria disposta no aparador, sonhando em raios langorosos
por entre as plácidas formas rotundas e através dos vidros coloridos da claraboia
no alto da parede que dava para o Oeste.
Mas isso foi em novembro, a estação dos dias nebulosos e langorosos,
quando se foi o esplendor inicial do outono, e o inverno, sob o horizonte
exaurido, já exala seu alento — novembro, quando, tal como uma matrona de
xale entre os filhos, o ano agoniza em paz, sem dor e sem aflição. No início de
dezembro vieram as chuvas e o ano moribundo mergulhou na temporada da
dissolução e da morte. Durante toda a noite e todo o dia ele murmurava no
telhado e ao longo dos beirais. As árvores haviam se despido de sua derradeira e
obstinada folhagem e delineado os galhos negros e tristonhos contra os
panoramas intermináveis; apenas uma nogueira solitária na orla do parque
preservava suas folhas, reluzindo como uma chama esmaecida sob o azul do céu,
e além do vale as colinas se ocultavam por trás de uma cortina de chuva.
Quase todos os dias, a despeito das censuras e ordens da senhorita Jenny e
dos graves protestos no olhar de Narcissa, Bayard saía com uma espingarda e os
dois cães e só voltava pouco antes de escurecer, completamente encharcado. E
voltava frio; seus lábios eram gelados, os olhos desolados e assombrados, e, na
luz amarelada do lume no quarto deles, ela se agarrava a ele, ou chorava em
silêncio no escuro ao lado de seu corpo rígido, com um espectro entre ambos.
“Olhe aqui”, disse-lhe a senhorita Jenny, aproximando-se dela quando estava
absorta diante do fogo no escritório do Bayard Velho. “Você está passando
tempo demais assim; está ficando muito melancólica. Pare de se preocupar: ele
passou metade da vida encharcado, e mesmo assim nenhum deles jamais pegou
um resfriado, que eu me lembre.”
“Nunca mesmo?”, respondeu ela desatenta. A senhorita Jenny ficou parada
ao lado da poltrona, observando-a com atenção. Em seguida colocou a mão na
cabeça de Narcissa, com uma suavidade surpreendente para uma Sartoris.
“Está preocupada porque talvez ele não a ame como você acha que deveria?”
“Não, não é isso”, respondeu ela. “Ele não ama ninguém. Não vai amar nem
mesmo o bebê. Ele não parece estar contente, ou arrependido, ou qualquer
coisa.”
“Não mesmo”, concordou a senhorita Jenny. O fogo estalou e saltou entre os
troncos resinosos. Do outro lado da janela cinzenta o dia se esvaía. “Ouça”, disse
de repente a senhorita Jenny. “Não ande mais naquele carro com ele, está
entendendo?”
“Não vou. Isso não vai fazer com que dirija com mais cuidado. Nada vai
fazer.”
“Claro que não. Ninguém acredita nisso, nem mesmo o avô dele. Ele vai
junto pela mesma razão que leva esse menino a fazer isso. Coisa de Sartoris.
Está no sangue. São selvagens, todos eles. Não se preocupam com ninguém
nesse mundo.”
Juntas elas contemplaram as chamas inquietas. A mão da senhorita Jenny
continuava acariciando a cabeça de Narcissa.
“Lamento ter envolvido você nisso.”
“A senhora não fez nada. Ninguém me envolveu. Eu mesma fiz isso.”
“Hum”, resmungou a senhorita Jenny. E então: “Você faria tudo igual de
novo?” A outra permaneceu calada, e ela repetiu a pergunta: “Faria?”
“Faria, sim”, respondeu Narcissa. “A senhora não sabe que eu faria?”
Ficaram outra vez em silêncio e assim, sem palavras, selaram seu pacto
desesperançado com aquela requintada e passiva coragem feminina. Narcissa se
levantou.
“Acho que vou passar o dia com Horace, se a senhora não se incomodar”,
disse ela.
“Claro que não”, concordou a senhorita Jenny. “É o que eu faria também.
Horace provavelmente está precisando de um pouco de atenção. Ele me pareceu
um pouco magro quando esteve aqui na semana passada. Como se não estivesse
se alimentando direito.”
Quando entrou pela porta da cozinha, Eunice, a cozinheira, afastou-se de seu
tabuleiro de pães e ergueu as mãos em um gesto vago e suave. “Sinhá Narcy, faz
um mês que a gente num se vê... A sinhá veio de lá tomando chuva?”
“Vim de charrete. Estava molhado demais para o carro”, disse, entrando na
cozinha. Eunice a fitou com satisfação circunspecta.
“Como vocês estão se virando?”
“Ele tá comendo um pouco”, respondeu Eunice. “Cuido disso. Mas tenho
que insistir. Ele precisa da sinhá por aqui.”
“Bem, estou aqui, pelo menos por hoje. O que tem para o jantar?”
Juntas levantaram as tampas e espiaram as panelas que fervilhavam no fogão
e no forno. “Ó, torta de chocolate!”
“Tenho de agradar ele com isso”, explicou Eunice. “Ele come de tudo, mas
só se eu fizer também torta de chocolate”, acrescentou com orgulho.
“Aposto que sim”, concordou Narcissa. “Ninguém faz essa torta como
você.”
“Mas essa num saiu lá essas coisa”, disse Eunice, depreciativamente.
“Num tô muito contente com ela.”
“Ora, Eunice! Está ótima.”
“Tá não, sinhá, num tá como devia tá”, insistiu Eunice. Mas ela reluzia com
uma modéstia grave, e durante alguns minutos ambas conversaram
amistosamente enquanto Narcissa espiava os armários e caixas.
Depois ela voltou para a casa e subiu até o quarto. No toucador não se viam
mais os objetos de prata e cristal que lhe eram mais caros, as gavetas estavam
vazias, e todo o quarto, com seu ar de desolação inerte e desvanecida, como que
a censurava. E estava gelado; nenhum fogo fora aceso na lareira desde a última
primavera, e sobre o criado-mudo, esquecido, fanado e morto, jazia um pequeno
ramalhete de flores em um vaso azul. Ao tocar as flores, elas se desfizeram em
sua mão, deixando uma mancha, e no vaso a água exalava um cheiro rançoso de
podridão. Ela abriu a janela e atirou-as para fora.
O quarto estava frio demais para ficar ali muito tempo, e ela decidiu pedir a
Eunice que acendesse a lareira para reconfortar aquela parte dela que ainda
pairava, sobriamente melancólica, na desolação gélida e acusadora do aposento.
Parou outra vez diante da cômoda e lembrou-se daquelas cartas, com um
desassossego e um sobressalto cismadores, recriminando-se mais uma vez por
não tê-las destruído.
Mas talvez tivesse feito isso, retornando ao círculo fechado de sua
perplexidade e temor iniciais, tentando se lembrar do fim que dera às cartas.
Estava certa apenas de tê-las colocado na gaveta junto com suas roupas de baixo,
quanto a isso não tinha dúvida. Porém, jamais conseguira encontrá-las, e
tampouco foram vistas por Eunice ou Horace. Só sentiu falta delas na véspera de
seu casamento, quando embalava suas coisas. Naquele dia notou que já não
estavam mais na gaveta, encontrando no lugar apenas uma carta com letra
diferente, que ela não se recordava de ter recebido. O sentido era bastante
evidente, ainda que não a tivesse entendido completamente. Naquele dia, porém,
ela a lera com tranquilo distanciamento: a carta e tudo o que lhe trazia à mente
ficara definitivamente para trás agora. E desprovida até mesmo disso, nem
mesmo ficaria chocada se a tivesse entendido. Um pouco curiosa, talvez, diante
de algumas palavras, mas nada além.
O que fizera de todas aquelas cartas, porém, isso era incapaz de lembrar, e tal
incapacidade infundia-lhe por vezes um nítido temor sempre que lhe ocorria a
eventualidade de as pessoas ficarem sabendo que alguém tivera tais pensamentos
a respeito dela e os pusera no papel.
Bem, elas haviam sumido; não podia fazer mais nada além de supor que as
tivesse destruído, tal como fizera com a última, ou, caso contrário, confiar que
jamais seriam achadas. Todavia, aquilo trazia-lhe de volta a repugnância e o
temor originais: a possibilidade de que a sua profunda e até então inviolada
serenidade pudesse se tornar joguete de circunstâncias; e que devia confiar no
acaso contra a eventualidade de um estranho por acaso recolher do chão um
pedaço de papel perdido...
Mas descartava isso com firmeza, pelo menos por enquanto. Esse deveria ser
o dia de Horace, e dela também — uma pausa naquele sonho povoado de
espectros ao qual se agarrava desperta. Desceu a escada. Havia fogo na lareira da
sala de estar. Porém, como restavam apenas brasas, ela o reabasteceu com carvão
e o reanimou. Isso seria a primeira coisa que ele encontraria ao chegar; talvez se
perguntasse, talvez se desse conta antes mesmo de entrar, tendo pressentido a
presença dela. Pensou em ligar para ele, meditou indecisa por um instante diante
do fogo, e então achou melhor fazer-lhe uma surpresa.
Mas, e se, devido à chuva, decidisse não jantar em casa? Diante de tal
possibilidade, ela o imaginou caminhando por uma rua sob a chuva, e de
imediato, com presciência instintiva, foi até o armário sob a escada e abriu a
porta. Confirmou o que suspeitava: tanto o sobretudo como a capa de chuva
estavam ali, e era bem provável que Horace nem sequer tivesse um guarda-
chuva. E, de novo, a irritação, a exasperação e um afeto inabalável brotaram
dentro dela e era outra vez como no passado, e tudo o que desde então se
intrometera entre os dois dissipou-se como nuvens.
Até então, quando chegava a época do frio, o piano sempre fora transferido
para a sala de estar. Mas agora continuava na saleta menor.
Também ali havia uma lareira, mas ainda não fora acesa, e o aposento estava
gelado. Sob os seus dedos, as teclas frias produziram um acorde letárgico,
acusador, repleto de censuras, e ela voltou para junto do fogo, de onde podia ver,
através da janela, o caminho de entrada sob os cedros sombrios e gotejantes.
Atrás dela, o pequeno relógio sobre o consolo soou as doze horas, ela
aproximou-se da janela e encostou o nariz no vidro frio, que ficou todo
embaçado por sua respiração.
Faltava pouco agora; embora não tivesse horários regulares, ele jamais se
atrasava, e toda vez que ela vislumbrava um guarda-chuva seu coração disparava
um pouco. Mas não era ele, e ela acompanhava a lenta passagem do transeunte
até que este inclinava um pouco o guarda-chuva e permitia-lhe distinguir o rosto,
e por isso só viu Horace quando este já estava na metade do caminho de entrada.
O chapéu dele estava caído sobre o rosto, a gola do casaco virada para cima,
cobrindo as orelhas, e, como previra, ele nem sequer carregava um guarda-
chuva.
“Ó, que idiota”, disse ela, correndo até a porta e, através do vidro com
cortina, entreviu a forma escura dele galgando os degraus. Ele abriu a porta com
força e entrou, sacudindo o chapéu encharcado contra a perna, e só notou a
presença da irmã quando ela avançou.
“Seu idiota”, disse ela, “onde está a sua capa de chuva?”
Por um instante ele a fitou com sua inquietação agitada e desconfiada. Então
exclamou “Narcy!”, seu rosto se iluminou e ele a apertou em seus braços
molhados.
“Não faça isso”, gritou ela. “Você está ensopado!” Mas ele a levantou do
chão, apertando-a contra o peito molhado e repetindo “Narcy, Narcy”; então ela
sentiu no rosto o nariz gelado do irmão e o gosto de chuva.
“Narcy”, disse ele de novo, abraçando-a, e ela deixou de resistir e agarrou-se
a ele. Então, abruptamente, ele a largou, ergueu os olhos e a contemplou com
grave intensidade. “Narcy”, disse ele, ainda a fitá-la, “aquele salafrário voltou...”
“Não, claro que não”, respondeu ela com firmeza. “Você ficou louco?” Então
agarrou-se de novo a ele, com a roupa molhada e tudo, como se jamais fosse
deixá-lo ir embora. “Ó, Horry”, disse afinal, “tenho sido horrível com você!”
3.
Dessa vez era um carro Ford, e Bayard o viu derrapar sem controle, enquanto
o motorista tentava trazê-lo de volta à estrada traiçoeira que descongelava, e,
para sua surpresa, vislumbrou num átimo, entre o colarinho sem gravata e a meia
feminina amarrada em torno da cabeça do motorista, o pomo de adão deste
subindo e descendo como um filhote de cão preso em um saco de aniagem. Essa
imagem relampejou e ficou para trás, enquanto Bayard girava abruptamente o
volante. O Ford imobilizado surgiu de novo em seu campo de visão,
aproximando-se aflitivamente, enquanto o imenso carro deslizava na superfície
escorregadia, com o motor desembreado rugindo. Em seguida o Ford voltou a
sumir enquanto ele girava o volante e engatava a marcha com um golpe seco, a
fim de recuperar a estabilidade; e mais uma vez aquele aflitivo e lerdo
deslizamento do carro que recusava a se firmar e o gélido mundo de dezembro
que passava pelo canto dos olhos. O Bayard Velho foi lançado contra ele; com
um olhar de esguelha, viu a mão do velho agarrando a borda superior da porta.
Agora estavam de frente para o barranco sobre o qual ficava o cemitério;
diretamente acima a efígie de pedra de John Sartoris erguia-se em sua postura
pomposa e, desde os cedros imóveis, contemplava o vale onde, por três
quilômetros, estendia-se diante de seus olhos esculpidos a ferrovia que
construíra. Bayard girou mais uma vez o volante.
No outro lado da estrada, despencava abruptamente um precipício, entre
cedros enfezados e canteiros erodidos e quebradiços delineados pela geada e o
gelo enlameado, ali onde ainda não chegara o sol.
A traseira do carro oscilou por uma eternidade sobre o vazio antes de retomar
o apoio, com a potência máxima, girando até que a frente do carro apontasse de
novo para o declive, sem reduzir a velocidade em nenhum instante. Mesmo
assim não conseguiu retornar aos sulcos nem ao meio da pista, e embora já
tivesse quase chegado o sopé do morro, Bayard viu que não conseguiriam se
safar. Pouco antes de deslizarem para fora, deu outra guinada no volante,
apontando a dianteira para o barranco, e o carro equilibrou-se preguiçosamente
por um instante, como se estivesse tomando fôlego. “Segura firme”, gritou para
o avô, e logo depois mergulharam.
Seguiu-se um momento de perfeito silêncio, sem a menor sensação de
movimento. Então os cedrinhos se romperam em estilhaços à volta deles e
galhos lacerantes chicotearam o radiador e os fustigaram com violência enquanto
se debruçavam agarrando as pernas, e o carro rodopiava em um salto formidável.
Outro intervalo parecido com um vácuo, e então um impacto que lançou o
volante contra o peito de Bayard e o sacudiu em suas mãos firmes, deslocando as
juntas dos braços. Ao lado, o seu avô foi arremessado para a frente, mas Bayard
estendeu o braço a tempo de impedir o outro de ser lançado através do para-
brisa. “Segura firme”, berrou. Em nenhum momento o carro deixara de
funcionar e ele puxou o volante desgovernado, girou na direção da ravina e
acelerou o motor; com a força deste e a velocidade da queda, transpuseram aos
trancos a valeta, viraram e galgaram o barranco agora raso, retornando à estrada.
Bayard por fim conseguiu parar o carro.
Ficou sentado imóvel por um instante. “Uau”, exclamou. E aí: “Santo Deus
da montanha”.
O avô continuava imóvel ao lado, com a mão ainda agarrada à porta e a
cabeça um pouco tombada.
“Acho que mereço um cigarro depois disso”, acrescentou Bayard. Com as
mãos trêmulas, tirou do bolso um cigarro e um fósforo. “Vi de novo aquela
maldita ponte de concreto, bem na hora em que caímos”, justificou-se. Deu uma
tragada funda no cigarro e olhou de esguelha para o avô. “Tudo bem com o
senhor?”
O Bayard Velho permaneceu calado. E ficou sentado como antes, a cabeça
um pouco tombada e a mão na porta.
“Vô?”, repetiu Bayard, agora mais enfático.
O Bayard Velho não se mexeu, nem mesmo quando o neto jogou fora o
cigarro e o sacudiu com força.
4.
Foi levado pela montaria incansável até o último morro e, sob o sol rasteiro
de dezembro, a sombra deles caía comprida através da serra e do vale embaixo,
do qual vinham os latidos agudos e estridentes dos cães no ar gelado e sem
vento. Cães jovens, disse Bayard para si mesmo, com o cavalo parado na débil
cicatriz do caminho, ouvindo a histeria estridente deles passar ecoando através
de seu campo auditivo. Ali parado, podia sentir a geada no ar. Acima, ainda que
sem vento, os pinheiros faziam um contínuo som seco e inquieto, como se a
geada tivesse achado sua voz; acima deles, destacando-se no azul profundo do
anoitecer, deslizou um bando de gansos em um raso v. “Vai nevar à noite”,
pensou, contemplando-os e pensando nos cafundós escuros em que iriam pousar,
nas cerradas baionetas de relva morta em torno das quais a água logo se encolhia
em ondas fixas e vítreas na escuridão quebradiça. Atrás dele a terra estendia-se
de uma serra a outra, azulada como fumaça de madeira, avançando por um céu
parecido com sangue ralo e congelado.
Ele se virou na sela e olhou sem piscar para o sol que se derramava como um
ovo escarlate sobre as derradeiras colinas. O tempo estava para mudar; aspirou o
ar parado e pinicante, na expectativa de distinguir o cheiro de neve.
O cavalo resfolegou, balançou a cabeça hesitante, sentiu as rédeas frouxas,
baixou o focinho e resfolegou outra vez, com os cascos em meio às folhas
mortas e às delicadas agulhas secas de pinheiro.
“Vamos lá, Perry”, disse Bayard, sacudindo as rédeas. Perry ergueu a cabeça
e partiu em um trote rígido e sacolejante, mas Bayard habilmente fez com que
retomasse o passo habitual.
Não tinham avançado muito quando os cães romperam de novo em um
alvoroço barulhento, e de repente, bem perto, enquanto freava o cavalo e
espreitava a cicatriz evanescente do caminho, avistou a raposa trotando
calmamente na trilha em sua direção. Perry também a viu no mesmo instante,
baixou as orelhas elegantes e revirou os olhos jovens. Mas o animal continuou
avançando imperturbável com seu trote firme e sossegado, olhando para trás por
sobre os ombros de tempos em tempos. “Bem, macacos me mordam”, murmurou
Bayard, mantendo Perry imóvel entre os seus joelhos. A raposa estava a menos
de quarenta metros; mesmo assim continuou a se aproximar, parecendo
completamente inconsciente do cavaleiro.
Então Bayard deu um grito.
O animal lançou-lhe um olhar; os raios baixos do sol inundaram rubra e
brevemente os seus olhos; em seguida, em um único e recatado relampejar
pardacento, sumiu. Bayard expeliu o ar preso em seu pulmão, o coração
pulsando forte contra as costelas. “Eia”, gritou.
“Ê, cachorrada!” A barulheira cresceu, tornou-se um pandemônio estridente
e a matilha virou um caos de pelos sarapintados e línguas e orelhas balouçantes
na trilha. Nenhum deles estava perto de chegar à maturidade e, ignorando o
cavalo e o condutor, enveredaram ruidosamente pela vegetação rasteira onde
havia desaparecido a raposa, continuando com o escarcéu frenético; e enquanto
Bayard ficava a observá-los, precedidos pelos latidos em tom ainda mais agudo e
descontrolado, dois filhotes ainda menores emergiram do mato e passaram por
ele com suas perninhas, seus ganidos lamurientos e suas expressões de absurda e
insensata preocupação. Em seguida o alvoroço foi se dissipando em ecos
histéricos e cessou.
Ele continuou a cavalgar. Em ambos os lados havia serras; uma delas já
escura como um baluarte de bronze, a outra iluminada pelos derradeiros e rubros
raios de sol. O ar estalava e pinicava em suas narinas e queimava-lhe os pulmões
com agulhadas revigorantes. A trilha acompanhava o vale. Agora, porém,
metade do sol estava acima da muralha a Oeste e, entre as árvores intermitentes,
ele cavalgava com a sombra até os estribos como se vadeasse em água fria. Iria
chegar logo antes de cair a noite e apressou um pouco Perry. O clamor dos cães
voltou a crescer à frente, aproximando-se do caminho, e ele forçou o cavalo a
um meio-galope.
Logo depois viu-se diante de uma clareira — uma antiga plantação, tomada
por moitas de artemísia, com as feridas dos arados cicatrizadas.
O sol a recobria de ouro agonizante e ele puxou o freio de Perry e estacou.
Ali, no canto da clareira à margem do caminho, viu a raposa.
Estava sentada sobre as coxas como um cão, fitando as árvores no outro lado
da clareira, e Bayard fez com que Perry avançasse. A raposa volveu a cabeça,
lançou-lhe um olhar dissimulado e rápido, mas sem temor, e Bayard voltou a
deter Perry, tomado de perplexidade. Desde a mata, cada vez mais aproximava-
se o clamor impetuoso dos cães; a raposa continuou sentada, observando o
homem com olhadelas dissimuladas, sem prestar atenção aos cães. Não
demonstrava o menor temor, nem mesmo quando, ladrando alucinadamente, os
filhotes adentraram a clareira. Então se agitaram confusamente na beira da mata
enquanto a raposa dividia sua atenção entre eles e o homem.
Por fim, o maior dos filhotes, sem dúvida o líder, avistou a presa.
Cessaram de pronto com o ruído, atravessaram trotando a clareira e se
acocoraram em círculo diante da raposa, com as línguas de fora.
Depois, ao mesmo tempo viraram-se todos e ficaram de frente para o mato
que escurecia, do qual chegava, cada vez mais próximo, aquele latido exausto e
frenético em tom mais agudo. O cão maior ladrou uma vez; os latidos entre as
árvores aumentaram com alívio frenético e então surgiram os dois filhotinhos,
que se enfiaram como toupeiras por entre os carriços e de lá saíram. A raposa se
levantou, lançou olhares rápidos e furtivos ao cavaleiro e, rodeada pelo amistoso
bando cansado e sarapintado dos filhotes, saiu trotando pelo caminho e sumiu
entre as árvores. “Ora, ora, macacos me mordam”, disse Bayard, enquanto
observava a cena. “Eia, Perry.”
Afinal, uma desbotada e imóvel coluna de fumaça elevou-se das árvores
mais adiante, ele saiu da mata e, na parede irregular da casa, a luz em uma janela
brilhava como um cálido convite no crepúsculo.
Os cães já haviam desencadeado um alvoroço ressonante e bimbalhante.
Bayard podia distinguir o claro tenor dos filhotes e uma voz que os
repreendia, e, enquanto detinha Perry no terreiro, a raposa desaparecia
recatadamente, mas sem pressa, embaixo da casa. Uma figura esguia o fitava no
lusco-fusco, com um machado na mão e uma braçada de madeira na outra, e
Bayard disse: “Que diabo é aquilo, Buddy? Aquela raposa?”
“É a Ellen.” Buddy depositou com cuidado no chão a madeira e o machado,
aproximou-se e cumprimentou Bayard com a mão frouxa, como de praxe no
campo, ainda que sua mão fosse firme e rija.
“Como vai?”
“Tudo bem”, respondeu Bayard. “Vim para irmos atrás daquela velha raposa
que o Rafe falou outro dia.”
“Claro”, concordou Buddy, com a voz arrastada de quem fala pouco.
“Estávamos esperando você. Desça e deixa que cuido do cavalo.”
“Não precisa, eu mesmo faço isso. Leve a lenha para dentro; vou ajeitar o
Perry.” Mas Buddy mostrou-se irredutível, sem ser insistente ou rude, e Bayard
acabou por lhe entregar o cavalo.
“Henry”, gritou Buddy para a casa, “Henry.” Uma porta se abriu, revelando
um fogo com chamas crepitantes e alegres, e, diante dele, uma figura acocorada.
“O Bayard tá aqui”, disse. “Entre e se aqueça”, acrescentou, afastando-se com
Perry. Os cães rodearam Bayard, que recolheu a madeira e o machado e
caminhou na direção da casa, em meio a um redemoinho espectral e sarapintado
de cães e de uma figura que ficou parada na porta iluminada enquanto ele subia
até a varanda e encostava o machado na parede.
“Como vai?”, indagou Henry, oferecendo-lhe também uma mão frouxa,
ainda que sua mão fosse igualmente firme e acolhedora; era, porém, mais flácida
que a carne jovem e rija de Buddy. Tomou os troncos de madeira dos braços de
Bayard e entraram na casa. As paredes do aposento eram de troncos calafetados.
Deles pendiam dois ou três calendários antigos e uma litografia colorida
anunciando um medicamento. O piso descoberto era de tábuas aplainadas à mão,
desgastadas por botas pesadas e polidas por gerações de patas caninas; dois
homens podiam se deitar lado a lado dentro da lareira. Nesta, quatro troncos de
mais de quatro pés queimavam encostados no fundo, produzindo fumaradas
rodopiantes que eram tragadas pela bocarra escura da chaminé, diante da qual,
com o perfil destacado pelo lume, a cabeça aureolada pela confusa desordem
prateada de seus cabelos, estava sentado Virginius MacCallum. “Bayard Sartoris
tá aqui, papi”, disse Henry.
O velho virou-se na cadeira com deliberação grave e leonina e, sem se
levantar, estendeu a mão. Em 1861, com dezesseis anos, fora caminhando até
Lexington, na Virgínia, e se alistara, servindo por quatro anos na brigada de
Stonewall, e depois voltara a pé para o Mississippi e erguera uma casa para si e
se casara. O dote de sua esposa fora um relógio e um porco temperado; o seu
próprio pai presenteara o casal com uma mula. Sua mulher morrera havia muito,
e a sucessora dela também, mas ele continuava diante da lareira na qual fora
assado aquele porco, sob o teto que levantara em 66, e no consolo da lareira
estava o relógio, zombando daquele tempo cujo servo fora no passado. “Então,
rapaz?”, disse ele. “Demorou pra vir. E a família, como vai?”
“Vão bem, senhor”, respondeu Bayard, perscrutando intensamente o rosto
saudável e corado do velho. Não, ainda não sabiam de nada.
“Estamos esperando desde a primavera, quando o Rafe topou com você na
cidade. Henry, diz pra Mandy botar outro prato na mesa.”
Quatro cães o haviam seguido casa adentro. Três deles o contemplavam
seriamente com olhos brilhantes; o outro, um sabujo malhado de azul, com
expressão de gravidade majestosa, aproximou-se e colocou o focinho gelado em
sua mão. “E aí, General”, disse ele, esfregando-lhe as orelhas, e com isso
fazendo com que os outros cães se aproximassem e também enfiassem os
focinhos em suas mãos.
“Puxe uma cadeira”, disse o senhor MacCallum. Afastou um pouco aquela
em que estava acomodado e Bayard o obedeceu. Os cães o seguiram, agitando-se
desajeitada e decorosamente em torno de seus joelhos. “Já mandei muito recado
pro seu avô”, prosseguiu o velho, “mas ele é orgulhoso ou preguiçoso demais pra
vir. Vem cá, General! Sai daí! Chuta eles, Bayard. Henry!”, gritou. Henry
apareceu. “Tira esses desgraçados daqui até depois da janta.”
Henry levou os cães para fora. O senhor MacCallum pegou uma lasca de
pinho comprida, aproximou-a do fogo, acendeu o cachimbo, apagou a lasca nas
cinzas e a pôs de volta na lareira. “Rafe e Lee foram pra cidade hoje”, disse.
“Você poderia ter vindo com eles na carroça.
Mas imagino que prefere seu próprio cavalo.”
“É verdade, senhor”, respondeu tranquilamente. Então eles ficariam sabendo.
Ficou a contemplar as chamas, esfregando lentamente as mãos nos joelhos, e por
um instante encarou com frieza os últimos meses de sua vida em todo o seu
absoluto e insensato desperdício; viu todo esse período como o desenrolar
acelerado de um filme, culminando naquilo a respeito do qual fora alertado,
naquilo que qualquer idiota poderia ter previsto. Bem, dane-se, supondo que isso
tivesse ocorrido: era ele o culpado? Tinha ele insistido para que o avô o
acompanhasse? Tinha ele dado ao velho um coração frágil? E, em seguida,
friamente: Você teve medo de voltar para casa. Fez com que um negro se
esgueirasse de lá com seu cavalo. Você, que de propósito faz coisas que seu juízo
lhe diz que podem não ser bem-sucedidas, nem mesmo possíveis, agora tem
medo de enfrentar as consequências de seus próprios atos. Então, de novo, algo
amargo e profundo e insone dele se insurgiu em defesa própria, em justificativas
e acusações; o que exatamente, ele não sabia, insurgindo-se contra o quê ou
Quem, ele não sabia: Você é o culpado! Você provocou isso; você matou Johnny.
Henry havia aproximado do fogo uma cadeira, e pouco depois o velho bateu
cuidadosamente o cachimbo de argila contra a palma da mão e tirou um imenso
relógio prateado do colete de veludo. “Cinco e meia”, disse. “Os rapazes não
chegaram ainda?”
“Já tão aí”, respondeu Henry laconicamente. “Tavam descarregando quando
tirei a cachorrada.”
“Pega a jarra, então”, ordenou o pai. Henry ergueu-se, saiu, e logo ouviram-
se passos pesados na varanda e Bayard virou-se na cadeira e olhou desolado para
a porta.
“Ora, ora”, disse Rafe, com o rosto moreno e esguio se iluminando um
pouco. “Veio, afinal?” Apertou a mão de Bayard, seguido por Lee. O semblante
deste, como o de todos, era uma máscara sombria e saturnina. Não era tão
atarracado quanto Rafe e, de todos, era o mais lacônico. Por trás de seus olhos
negros e inquietos pairava algo indomável e triste. Apertou a mão de Bayard sem
dizer nada.
Mas Bayard estava de olho em Rafe. Não se notava nada no rosto dele;
nenhuma frieza, nenhuma indagação. Era possível que tivesse ido à cidade e não
ouvido nada? Ou teria o próprio Bayard sonhado com aquilo? Mas então
lembrou-se da sensação inconfundível quando tocara o avô; lembrou-se de como
ele afundara de repente, como se todas as suas fibras, por tanto tempo
entretecidas, tão eretas e firmes pelo orgulho e a perversa necessidade da sina
familiar, tivessem cedido completamente de uma vez só, permitindo que seu
esqueleto por fim repousasse. O senhor MacCallum disse: “Você passou na
agência do correio?”
“Nem deu pra gente chegar na cidade”, respondeu Rafe. “O eixo quebrou
pouco antes de Vernon. Tivemos que soltar a carroça e ir até Vernon pra
consertar. Aí ficou tarde demais. Compramos tudo lá mesmo e pegamos o
caminho de volta.”
“Bem, não tem importância. Na semana que vem, no Natal, vocês estão de
volta lá”, comentou o velho. Bayard respirou aliviado, acendeu um cigarro e, em
meio a uma lufada de vívida escuridão, Buddy entrou e foi se agachar esguio no
canto escuro da chaminé.
“Aquela raposa de que você me falou continua por aí?”, Bayard perguntou a
Rafe.
“Continua. E vamos pegar ela dessa vez. Talvez amanhã. O tempo tá
mudando.”
“Neve?”
“Pode ser. Como vai ser à noite, papi?”
“Vai chover”, respondeu o velho. “E amanhã também. O rastro só vai firmar
bem lá pela quarta. Henry!” Logo depois voltou a chamar, e Henry entrou com
uma chaleira enegrecida soltando uma débil coluna de vapor, uma jarra de
cerâmica e um copo grosso com uma colher de metal. Henry tinha algo de
doméstico e feminino, com seu corpo atarracado e rechonchudo, seus mansos
olhos castanhos e mãos hábeis e vagarosas. Era ele que cuidava da cozinha
(tornara-se melhor cozinheiro do que Mandy) e da casa, onde quase sempre
podia ser encontrado, calmamente entretido com alguma tarefa interminável. Ia à
cidade quase tão pouco quanto o pai; não se interessava por caçadas e sua única
diversão era produzir uísque, um uísque muito bom e só para consumo da
família, em um local secreto conhecido apenas pelo pai e por seu ajudante negro,
e seguindo uma receita transmitida de uma geração a outra, desde antepassados
remotos criados com usquebaugh. Colocou a chaleira, a jarra e o copo sobre a
lareira, pegou o cachimbo de argila da mão do pai e o pôs sobre o consolo, e de
lá tirou um açucareiro rachado e sete copos, cada qual com sua colher. O velho
inclinou-se adiante, para a luz da lareira, e preparou os grogues um a um, com
meticulosidade solene e tediosa. Quando terminou de preparar uma rodada,
ficaram sobrando dois copos. “Os outros não chegaram ainda?”, perguntou.
Ninguém respondeu e ele fechou o jarro com uma rolha. Henry colocou os
dois copos de volta no consolo.
Logo Mandy apareceu à porta, preenchendo-a com o seu volumoso e singelo
vestido de chita. “Pode vir que tá pronto”, anunciou e, quando se virou,
gingando, Bayard dirigiu-se a ela, que parou enquanto os homens se levantavam
e saíam da sala. O velho era empertigado como um índio e, com exceção do
esguio e flexível Buddy, ele assomava acima dos filhos por uma cabeça. Mandy
esperou ao lado da porta e deu a mão a Bayard. “Faz tempo que num aparece”,
disse ela. “Aposto que num esqueceu da Mandy.”
“Claro que não”, respondeu Bayard. Mas havia esquecido. Para Mandy, não
havia dinheiro que se comparasse a algum badulaque barato que John, quando ia
lá, jamais esquecia de levar para ela. Ele seguiu atrás dos outros na escuridão
gelada. Debaixo de seus pés o chão já começava a endurecer; acima, o céu
reluzia de estrelas.
Tropeçou um pouco atrás das costas amontoadas até Rafe abrir a porta de
uma construção separada, e ficou de lado até que todos tivessem entrado. Esse
aposento estava cheio de calor e de uma névoa rala e azulada, pungente com
aromas de comida, e era iluminado pela lamparina de querosene sobre uma mesa
comprida. Numa das pontas desta havia uma cadeira solitária; nos outros três
lados havia bancos de madeira sem encosto. Junto à parede do fundo ficava o
fogão, um enorme armário de tábuas e uma caixa de lenha. Atrás do fogão
estavam sentados dois negros e um moleque, com os rostos reluzentes de calor e
o branco dos olhos aparecendo; perto de seus pés, cinco filhotes enrodilhavam-se
com falsa selvageria, lambiam os calcanhares imóveis dos negros ou exploravam
o piso debaixo e perto do fogão com uma curiosidade canhestra e sem objetivo.
“E aí, rapaziada”, disse Bayard, chamando-os pelo nome, e eles inclinaram
as cabeças para ele, arreganhando os dentes com timidez e cumprimentos
murmurados.
“Segura esses filhote, Richard”, ordenou Mandy. Os negros recolheram um a
um os filhotes e os colocaram em uma caixa menor atrás do fogão, onde
continuaram a se mexer, chocando-se e arranhan-se sem parar, com ocasionais
protestos abafados. De tempos em tempos, uma cabeça aparecia, espiando pela
borda da caixa com uma curiosidade solene e pestanejante, então sumia com um
baque abrupto entre mais confusão e protestos e os agitados ruídos infantis.
“Quieto aí, cachorrada! Vão dormir agora”, dizia Richard, batendo na caixa
com o calcanhar. Pouco depois cessavam os ruídos.
O velho sentou-se na cadeira solitária, rodeado pelos filhos e pelo visitante;
alguns sem casaco, todos com camisas sem gola, semblantes morenos e
saturninos, evidentemente estampados com o mesmo molde. Comeram salsichas
e costeletas de porco, um prato de canjica, outro de batatas-doces fritas, pão de
milho e uma jarra de xarope de sorgo, e depois Mandy serviu-lhes café de uma
enorme panela esmaltada.
No meio da refeição chegaram os dois que faltavam — Jackson, o mais
velho, de cinquenta e dois anos, com testa larga e alta, sobrancelhas espessas e
uma expressão ao mesmo tempo sonhadora e intensa, uma espécie de Cincinato
acanhado e pouco prático; e Stuart, com quarenta e quatro anos, o gêmeo de
Rafe. Embora gêmeos, não havia maior semelhança entre eles do que entre os
outros, como se o molde fosse preciso demais e a cunhagem nítida demais para
ser apressada ou alterada, mesmo que pela natureza. Stuart não tinha nada da
desenvoltura de Rafe (este era o único que, por um esforço de imaginação,
poderia ser chamado de loquaz); por outro lado, ele tinha muito da placidez de
Henry. Era um bom agricultor e um mercador astuto, e tinha uma conta bancária
respeitável. Henry, com cinquenta anos, era o segundo filho.
Comeram em um decoro silencioso e constante, trocando apenas as palavras
mais indispensáveis, mas de maneira amistosa. Mandy ia e vinha entre a mesa e
o fogão.
Antes de terminarem de comer, um súbito escarcéu canino retiniu na noite e
atravessou a parede espessa até o aposento. “Olha lá.”
O negro Richard inclinou a cabeça. Buddy ficou segurando no ar a caneca de
café.
“Onde eles tão, Dick?”
“Logo atrás da cabana do riacho. Pegaram ele também.” Buddy se levantou e
saiu com agilidade de seu canto.
“Vou com você”, disse Bayard, erguendo-se também. Os outros continuaram
a comer. Richard pegou uma lamparina no alto do armário e a acendeu, e os três
saíram da sala e mergulharam na escuridão gélida, do fundo da qual o ladrar dos
cães vinha em rajadas musicais, ressoando como vidro enregelado. Estava frio e
escuro. A casa assomava com a parede irregular interrompida pelo rosado fulgor
da janela. “O chão já está bem duro”, comentou Bayard.
“Não vai congelar hoje”, respondeu Buddy. “Vai, Dick?”
“Num sinhô. Vai chovê.”
“Acho que não”, disse Bayard. “Não acredito nisso.”
“O papi disse que ia”, retrucou Buddy. “Tá mais quente que no pôr do sol.”
“Não me parece, não”, insistiu Bayard. Passaram pela carroça imóvel à luz
das estrelas, as rodas reluzindo como faixas de veludo; e pelo longo e
desconjuntado estábulo, do qual vinham ruminações plácidas e um ocasional
resfolegar quando passavam com a lamparina. Em seguida esta piscou entre o
arvoredo quando a trilha virou um declive. O clamor dos cães aumentou abaixo
deles e suas formas fantasmagóricas moviam-se na débil luminosidade e em um
broto de árvore atrás da cabana do riacho, viram o gambá imóvel e enrodilhado,
com os olhos bem fechados em uma forquilha a cerca de seis pés do chão.
Buddy o tirou de lá pela cauda, sem topar com qualquer resistência. “Desgraça”,
disse Bayard.
Buddy chamou os cães e percorreram a trilha de volta. Em um barraco
abandonado atrás da cozinha, pelo menos cinquenta olhos aparentemente
reluziram em pontos rubros emparelhados enquanto Buddy balançava a
lamparina e a aproximava de uma gaiola com tela de arame, da qual vinha um
odor quente e rançoso, e onde corpos peludos e cinzentos moviam-se
preguiçosamente ou volviam os rostos afilados e esqueléticos para a luz. Abriu a
portinhola, jogou lá dentro o último cativo entre seus companheiros e passou a
lamparina a Richard. Quando saíram, o céu já estava um pouco nublado, sem
algo de sua cintilação quebradiça.
Os outros estavam sentados em um semicírculo ao redor das chamas da
lareira; aos pés do velho o cão azulado dormitava. Abriram espaço para Bayard,
e Buddy voltou a se acocorar no canto da chaminé.
“Pegaram ele?”, perguntou o senhor MacCallum.
“Sim, senhor”, respondeu Bayard. “Como tirar um chapéu de um prego na
parede.”
O velho deu uma baforada em seu cachimbo. “Vamos dar pra você uma
caçada de verdade antes de você ir.”
“Você está com quantos anos, Buddy?”, perguntou Rafe.
“Catorze, por aí.”
“Catorze?”, repetiu Henry. “A gente nunca vai dar conta de comer catorze
gambás...”
“Então a gente solta eles e pega tudo de novo”, respondeu Buddy.
O velho dava lentas baforadas com o cachimbo. Os outros também fumavam
ou mascavam tabaco, e Bayard pegou seus cigarros e os ofereceu a Buddy. Este
recusou com um movimento de cabeça.
“Buddy ainda não começou a fumar”, disse Rafe.
“Ainda não?”, perguntou Bayard. “Qual é o problema, Buddy?”
“Sei lá”, disse Buddy, do canto escuro. “Deve ser falta de tempo para
aprender, imagino.”
O fogo estalava e redemoinhava; de tempos em tempos, Stuart, que estava
perto da caixa de lenha, acrescentava outro tronco na lareira. Aos pés do velho, o
cão sonhava, apagado; cinzas fofas giravam na lareira, roçavam seu focinho e ele
espirrava; aí despertava, levantava a cabeça, pestanejava na direção do velho e
voltava a dormitar. Ficaram ali calados e quase sem se mover, os rostos graves e
aquilinos como se esculpidos pela luz do fogo na escuridão sombreada,
moldados por um único pensamento, polidos e coloridos por uma única mão. O
velho bateu o cachimbo com cuidado na palma e consultou o gordo relógio de
prata. Oito horas.
“Vamos levantar às quatro, Bayard”, disse. “Mas você pode ficar dormindo
até clarear. Henry, pega a jarra.”
“Quatro horas”, repetiu Bayard, enquanto ele e Buddy se despiam no frio
iluminado pela lamparina do quarto no qual, em um imenso leito de madeira
com desbotada colcha de retalhos, dormia Buddy.
“Não sei por que se dar ao trabalho de ir para a cama.” Ao falar, sua
respiração se vaporizava no ar gelado.
“É verdade”, concordou Buddy, tirando a camisa pela cabeça e sacudindo as
calças de brim cáqui de suas canelas magras de cavalo de corrida. “Não vai
demorar muito passar a noite aqui em casa. Mas é bom ter você como
companhia”, acrescentou, com um laivo de inveja e anseio na voz. Nunca mais,
depois dos vinte e cinco anos, dormir a manhã toda seria algo tão glorioso. Os
preparativos dele para o sono eram sumários; descalçou as botinas, tirou a calça
e a camisa, enfiou-se sob as cobertas com a roupa de baixo de lã e agora ali
estava, apenas com a cabeça redonda de fora, observando Bayard, em pé com
uma malha sem mangas e cuecas de tecido fino. “Desse jeito, você num vai
dormir quente, não”, comentou Buddy. “Quer emprestada uma das minhas
roupas pesadas?”
“Acho que não precisa”, respondeu Bayard. Ele soprou a chama da
lamparina e foi tateando, com os dedos vacilantes no piso gelado, até entrar na
cama. Era um colchão de sabugos de milho, que chacoalhava sob o seu peso,
com um ruído seco e sibilante, e sempre que ele ou Buddy se mexiam, ou
mesmo quando respiravam mais fundo, os sabugos se moviam com pequenos
estalos.
“Bota a colcha bem presa em volta de tudo”, aconselhou Buddy do fundo da
escuridão, soltando o ar dos pulmões em um breve som explosivo de
descontração. Então bocejou, de modo audível mas invisível.
“Faz tempo que não te vejo por aqui”, disse.
“É verdade. Quanto mesmo? Dois... três anos, não é?”
“Foi em 1915”, respondeu Buddy, “da última vez que você e ele...” E, em
seguida, mais baixo: “Vi num jornal quando aconteceu. O nome. Soube de cara
que era ele. Era um jornal inglês.”
“É mesmo? Onde você estava?”
“Lá onde tavam os ingleses. Pra onde mandaram a gente. Era um baixadão.
Não sei como drenavam aquilo e plantavam alguma coisa, com toda aquela
chuva.”
“É verdade.” O nariz de Bayard mais parecia um bloco de gelo.
Podia sentir seu alento aquecendo um pouco o nariz, e quase podia distinguir
o débil vapor de sua respiração; e ao inalar podia sentir o ar gelando outra vez as
narinas. Parecia que podia sentir as tábuas do teto que se inclinavam para a
parede mais baixa do lado de Buddy, podia sentir o ar concentrado no canto mais
baixo, amargo e gélido e espesso, espesso demais para ser respirado, como uma
borra invisível, sob a qual estava... Estava consciente do som rascante e seco dos
sabugos embaixo de seu corpo e descobriu, assim, que respirava em golfadas
fundas e irregulares, e sentiu uma vontade incoercível de ficar em pé, de se
mexer, diante do fogo, sob a luz; qualquer outro lugar, qualquer outro. Buddy
estava estirado ao lado na solidez opressiva e semicongelada do frio, falando da
guerra à sua maneira arrastada e desarticulada. Era uma espécie de conto vago e
onírico, sem começo nem fim, repleto de referências confusas a lugares com
nomes miseravelmente estropiados — a impressão que ficava era de gente sem
iniciativa, nem passado nem futuro, presas fora do tempo em um labirinto de
preocupações solitárias e conflitantes, batendo as cabeças em meio a um
pesadelo iminente mas incompreensível.
“Você gostou do exército, Buddy?”
“Não muito. Não tinha muito que fazer. É bom pra vagabundo.”
Buddy ficou pensando. “Me deram um talismã”, acrescentou num assomo de
tímida e recatada confiança e de grave contentamento.
“Um talismã?”, repetiu Bayard.
“É. Um desses troços de lata com fita colorida. Pensei em te mostrar, mas
esqueci. Amanhã mostro. O chão aqui tá frio demais pra pisar agora. De repente
amanhã tenho uma chance quando papi tiver fora da casa.”
“Por quê? Ele não sabe que você ganhou isso?”
“Sabe, sabe”, respondeu Buddy. “Só que não gostou nada, diz que é talismã
ianque. Rafe diz que papi e Stonewall Jackson jamais se renderam.”
“É verdade”, repetiu Bayard. Buddy então parou de falar e voltou a suspirar,
esvaziando o corpo para dormir. Mas Bayard permaneceu rígido de costas, com
os olhos completamente abertos. Era como estar embriagado; sempre que você
fecha os olhos, o quarto começa a girar e girar, e é preciso ficar imóvel no escuro
com os olhos bem abertos para não enjoar. Buddy havia parado de falar e sua
respiração tornara-se mais longa, constante e regular. Os sabugos se mexeram
com queixas sibilantes enquanto Bayard se virava lentamente para ficar de lado.
Buddy continuava a respirar na escuridão, de maneira regular e sossegada.
Bayard também podia ouvir a própria respiração, mas acima dela, em torno dela,
envolvendo-o, aquela outra respiração.
Como se ele fosse uma coisa respirando, com esforço contido e laborioso, no
interior de si mesmo, respirando com o alento de Buddy; consumindo todo o ar e
forçando a coisa menor a arquejar. Enquanto isso a coisa maior respirava
profunda e regularmente, inconsciente, adormecida, remota; talvez morta, quiçá.
Talvez ele estivesse morto, e lembrou-se daquela manhã, reviveu-a com
meticulosa atenção desde o momento em que vira a primeira bala com seu rastro
de fogo até que, inclinando fortemente seu avião, viu a chama irromper como a
jovial tremulação de uma flâmula alaranjada no nariz do Camel de John, e notou
o gesto familiar de seu irmão e o corpo dele em queda se abrir de repente e sem
elegância enquanto perdia o equilíbrio no ar; ele a reviveu como se poderia reler
um conto impresso e muito conhecido, tentando recordar, sentir um projétil
entrando no próprio corpo ou na própria cabeça, capaz de abatê-lo no mesmo
instante.
Talvez explicasse isso, talvez explicasse tudo; o fato de que também estava
morto e no inferno, pelo qual ele se movia para todo o sempre com a ilusão de
estar vivo, buscando o irmão que, por sua vez, também o buscava, e jamais os
dois se encontrariam. Ele voltou a ficar de costas; os sabugos murmuraram algo
sob ele com seca zombaria.
A casa estava cheia de ruídos; para seus sentidos aguçados o silêncio era
prolífico: a agonia seca da madeira na geada negra; o estalar dos sabugos quando
respirava; a própria atmosfera, como gelo sujo na morsa do frio, oprimindo-lhe
os pulmões. Com os pés gelados, os membros suando de frio e, em volta do
coração quente, o corpo rígido e tiritante, colocou os braços nus acima da
coberta e ficou por um tempo sentindo o frio pressioná-los como um molde de
chumbo. E durante esse tempo todo, a respiração constante de Buddy e sua
própria respiração restrita e ofegante, ambas sem origem mas entrelaçadas.
De novo sob a coberta, os braços estavam gelados contra o peito e as mãos
eram como gelo sobre as costelas, e ele se mexeu com infinito cuidado enquanto
a frialdade ia avançando dos ombros para baixo, e os sabugos ocultos palravam
com ele, e baixou as pernas até o chão. Sabia onde ficava a porta e foi tateando
até lá com os dedos encolhidos. Estava fechada com uma trava de madeira, lisa
como gelo; ao tentar abri-la, encostou em algo ao lado, algo gelado, tubular e
ereto, e sua mão escorregou pelo objeto e em seguida estacou na escuridão
completa e gélida, com a espingarda na mão, e ao ficar assim, os dedos
amortecidos apalpando a culatra, lembrou-se dos cartuchos na caixa de madeira
sobre a qual ficava a lamparina.
Permaneceu assim um bom tempo, a cabeça um pouco inclinada e a arma em
suas mãos enregeladas; em seguida, encostou-a de novo no canto e ergueu
devagar e silenciosamente a trava de madeira de seus apoios. A porta cedeu nos
gonzos, e depois do primeiro rangido, ele a agarrou pela borda e a levantou um
pouco, e ali ficou parado.
Não se via nenhuma estrela no céu, que não passava do despojo flácido de si
mesmo. Ele jazia sobre a terra como um balão esvaziado; e desse fundo,
elevava-se chapada a silhueta escura da cozinha, o arvoredo mais adiante e as
formas familiares como tristes espectros na gélida luz cadavérica — a pilha de
lenha; uma ferramenta agrícola; um barril ao lado do piso quebrado junto à porta
da cozinha, onde havia tropeçado a caminho do jantar. A frialdade engelhada o
impregnava como água na areia, em breves gotejamentos; interrompendo-se,
lutando com um obstáculo, avançando mais um pouco, escorrendo afinal pelos
ossos desimpedidos. Estava tremendo de frio, lenta e constantemente; sob as
mãos, sua pele estava áspera e amortecida; ainda assim tremia sem cessar, como
se algo dentro do envelope morto de seu corpo lutasse para se libertar. Acima da
cabeça, no teto de tábuas, ressoou uma única e ligeira batida, e como se fosse um
sinal, o silêncio acinzentado começou a se dissolver. Fechou a porta sem fazer
ruído e voltou para a cama.
Ali continuou a tremer, mais do que antes, para a zombaria fria dos sabugos
embaixo, e ficou de costas, ouvindo a chuva de inverno que sussurrava no
telhado. Não havia barulho dos pingos, como ocorre no verão, quando a chuva
cai pelo ar ligeiro, mas um murmúrio pouco enfático, como se a atmosfera,
estendendo-se pesadamente sobre o telhado, ali se dissolvesse e gotejasse
vagarosa e constantemente pelos beirais. Sentiu o sangue voltar a circular sob as
cobertas que pareciam de ferro ou de gelo; enquanto permanecia imóvel sob a
chuva, seu sangue foi aos poucos se aquecendo até que por fim cessaram os
tremores do corpo e em seguida ele se viu invadido por uma sonolência torturada
e espasmódica, rodeado pelas imagens e formas retorcidas do desespero
obstinado e de um anseio incessante por... não tanto absolvição mas
compreensão; por alguma mão, de quem quer que fosse, que o tocasse e o tirasse
de seu caos negro. Ele a afastaria, é claro, mas só assim poderia recuperar outra
vez sua fria suficiência.
A chuva gotejava, gotejava sem parar; ao lado, Buddy respirava plácida e
regularmente: nem sequer havia mudado de posição. Às vezes, Bayard agitava-
se em seu sono leve: dormitando, permanecia desperto; desperto, via-se em um
estado brumoso em meio a um tumulto improvável, no qual não encontrava
alívio nem repouso: gota a gota, a chuva consumiu a noite, desgastou o tempo.
Mas este era longo, desgraçadamente longo. Seu sangue exaurido, cansado de
lutar, movia-se pelo corpo em lentas pulsações, como a chuva, consumindo a
carne. Vem para todos... a Bíblia... algum pregador, de qualquer modo. Talvez
ele soubesse. Sono. Vem para todos.
Por fim, através das paredes, deu-se conta de que havia movimento.
Era algo indistinto; no entanto, sabia que era de origem humana, feito por
pessoas cujos nomes e rostos conhecia, despertando de novo para o mundo que
ele não fora capaz de deixar nem mesmo temporariamente; pessoas de quem ele
era... e sentiu-se reconfortado.
Os ruídos continuaram; ouviu o ruído inconfundível de uma porta sendo
aberta, e uma voz que, com um ligeiro esforço, até conseguiria lhe atribuir um
nome; e, melhor de tudo, sabia que agora podia se levantar e ir até onde estavam
reunidos em volta do fogo crepitante, onde havia luz e calor. E ali ficou, afinal
apaziguado, com a intenção de sair da cama e juntar-se aos outros em seguida,
adiando o momento um pouco mais enquanto o sangue pulsava devagar por seu
corpo e seu coração se aquietava. Ao lado, Buddy continuava a respirar
tranquilamente, e sua própria respiração agora estava tão calma quanto a dele,
enquanto os sons humanos chegavam como um murmúrio ao quarto gelado,
graves, familiares, reconfortantes.
Vem para todos, vem para todos, assegurou-lhe o coração exausto, e afinal
adormeceu.
Acordou na manhã cinzenta, o corpo esgotado, pesado e obtuso; o sono não
o havia restaurado. Buddy já saíra, e ainda chovia, mas agora era um ruído nítido
e determinado no telhado, e o ar estava mais quente, com uma aspereza que
penetrava em seus ossos; andando de meia, e levando na mão as botinas, ele
atravessou o aposento frio onde dormiam Lee, Rafe e Stuart, e encontrou Rafe e
Jackson diante do lume na sala.
“Deixamos você dormir”, disse Rafe, e acrescentou: “Santo Deus, rapaz, tá
com cara de que não pregou os olhos. Não conseguiu dormir nada?”
“Não, dormi bem”, respondeu Bayard. Sentou-se e calçou as botinas com
batidas no chão e amarrou as tiras de couro abaixo dos joelhos.
Jackson estava sentado ao lado da lareira. No canto escuro junto aos seus
pés, um grupo de criaturinhas vivas enrodilhava-se em silêncio e, ainda
debruçado sobre as botas, Bayard comentou: “O que é isso aí, Jackson? Que tipo
de filhotes são esses?”
“Nova raça que estou criando”, respondeu Jackson. Rafe voltou com meio
copo do uísque pálido e ambarino destilado por Henry.
“São os filhotes da Ellen”, disse ele. “O Jackson te explica depois que você
comer. Toma, bebe isso. Você tá com uma cara péssima. O Buddy deve ter te
deixado acordado a noite toda com as histórias dele”, acrescentou com ironia
seca.
Bayard tomou o uísque e acendeu um cigarro. “A Mandy guardou comida
pra você no fogão”, disse Rafe.
“Ellen?”, repetiu Bayard. “Ah, a raposa. Queria perguntar sobre ela na noite
passada. Vocês todos estão criando ela?”
“Tamos. Ela cresceu com a última ninhada de filhotes. Buddy a pegou. E
agora Jackson quer revolucionar a arte da caça com ela. Quer criar uma raça de
animais com faro e corpo de cachorro e a esperteza e rapidez de uma raposa.”
Bayard aproximou-se do canto e examinou as pequenas criaturas com
interesse e curiosidade. “Nunca vi tantos filhotes de raposa”, disse por fim, “mas
também nunca vi nada que se parecesse com eles.”
“Essa também parece ser a opinião do General”, respondeu Rafe.
Jackson cuspiu no fogo e debruçou-se sobre os animaizinhos. Estavam
acostumados com as mãos dele e se agitaram ainda mais; então Bayard deu-se
conta de que não emitiam nenhum som, nem mesmo os choramingos de filhotes.
“É uma experiência”, explicou Jackson. “Os rapazes ficam aí gozando, mas
eles acabaram de desmamar. Vocês ainda vão ver.”
“Você nem sabe o que vai fazer com eles”, disse Rafe com brutalidade.
“Nunca vão ficar grandes o bastante pra servir pra alguma coisa. Melhor
você ir tomar o café, Bayard.”
“Vocês inda vão ver”, repetiu Jackson, mexendo com as mãos no
embolotamento de pequenos corpos de maneira terna e protetora.
“Não dá pra dizer nada sobre um cachorro antes dele chegar pelo menos aos
dois meses, não é?”, apelou a Bayard, lançando-lhe um olhar vago e intenso por
baixo das sobrancelhas espessas.
“Vai tomar café, Bayard”, insistiu Rafe. “Buddy já saiu e te deixou pra trás.”
Ele lavou o rosto na água gelada de uma bacia de lata que havia na varanda e
fez seu desjejum — presunto, ovos, panquecas e xarope de sorgo — enquanto
Mandy falava de seu irmão. Quando voltou para a casa, encontrou lá o velho
senhor MacCallum. Os filhotes se enrodilhavam no canto de modo que não se
podia distingui-los, e o velho estava sentado com as mãos nos joelhos,
observando-os com uma satisfação franca e irreverente, enquanto Jackson o
rodeava, hesitante e preocupado, como uma galinha com seus pintinhos.
“Venha cá, rapaz”, ordenou o velho ao ver Bayard. “Ei, Rafe, me passa
aquela linha com isca.” Rafe saiu e voltou em seguida com um naco de carne de
porco na ponta de um cordão. O velho o pegou e arrastou com vigor os filhotes
até a luz, onde se agacharam apavorados — Bayard jamais vira uma ninhada tão
estranha como aquela. Não havia dois filhotes parecidos, e nenhum lembrava
qualquer outra criatura viva — nem eram cães nem raposas, tinham algo de
ambos e não se pareciam nem com estas nem com aqueles; e, a despeito de
serem ainda muito pequenos, havia neles algo de monstruoso, paradoxal e
repugnante, aqui o focinho cruel e aguçado de uma raposa entre os olhos úmidos
e tristes de um cão com orelhas mansas, ali as orelhas pendentes tentavam
valorosamente permanecer eretas e suas pontas tombavam miseravelmente; e as
caudas curtas e flácidas eriçando-se com uma penugem rala e dourada, como a
parte interna de uma castanha. Quanto às cores, iam do pardo avermelhado,
passando por um rajado indistinto, até o sarapintado puro sobre um fundo ruço
pálido, e um deles exibia, traço por traço, o semblante do velho General em
cômica miniatura, incluindo sua expressão de desilusão melancólica e digna.
“Preste atenção agora”, indicou o velho.
Fez com que todos ficassem virados com a cabeça para o mesmo lado; em
seguida, sacudiu a carne atrás deles. Nenhum notou a presença do naco; aí ele o
balançou logo acima de suas cabeças; nenhum olhou para cima. Em seguida
balançou a carne diante dos olhos deles; mesmo assim continuaram sentados
desconfiadamente sobre as pernas jovens e pouco firmes, fitando a carne com
curiosidade, mas sem demonstrar qualquer interesse maior, e então voltaram a se
enrodilhar silenciosamente uns com os outros.
“Não dá pra saber nada de um cachorro...”, começou Jackson, mas foi
atalhado pelo pai.
“Veja isso agora.” Ele segurou os filhotes com uma das mãos e, com a outra,
aproximou a carne de seus focinhos. Logo eles se agitaram atabalhoada e
ansiosamente sobre a mão dele, que então afastou a carne e, puxando pela ponta
do barbante, arrastou-a pelo chão, fazendo com que avançassem
desordenadamente. Aí, no meio da sala, ele puxou a carne ligeiramente para o
lado, mas, em vez de segui-la, os filhotes seguiram aos trambolhões na direção
do canto escuro, onde seu avanço foi interrompido pela parede e onde, em
seguida, recomeçou a confusão paciente e muda de seus corpos. Jackson cruzou
a sala, recolheu os filhotes e os trouxe para perto do lume.
“Bem, o que acha deles, como animais de caça?”, perguntou o velho. “Não
farejam nada, não latem e nem mesmo sei se conseguem enxergar.”
“Não dá pra saber nada de um cachorro...”, insistiu Jackson pacientemente.
“O General consegue”, interrompeu o pai. “Ei, Rafe, chama o General pra
cá.”
Rafe foi até a porta e chamou o sabujo, e logo depois o General entrou, suas
garras raspando um pouco no piso de tábuas, com seu pelame mosqueado
molhado de chuva, e ali ficou, sério e inquiridor, olhando para o rosto do velho.
“Venha aqui”, ordenou o senhor MacCallum, e o cão voltou a se mover, com
dignidade vagarosa. Então avistou os filhotes embaixo da cadeira de Jackson.
Estacou no meio de uma passada e ficou a contemplá-los, fascinado, perplexo e
com uma espécie de horror grave; em seguida, lançou ao seu senhor um olhar
ferido e reprovador e afastou-se com o rabo entre as pernas.
O senhor MacCallum sentou-se, com o seu corpo sacudido por um riso forte
e quase silencioso.
“Não dá pra dizer nada sobre um cachorro...”, repetiu Jackson, e então se
abaixou, recolheu seus protegidos e se levantou.
O corpo do senhor MacCallum continuou sendo sacudido pelo riso.
“Bem, não dá pra culpar o velho”, disse. “Se eu tivesse de olhar pra uma
cambada de pobres-diabos como esses e dizer pra mim mesmo: ‘Esses são os
meus filhos...’” Jackson, porém, já saíra. O velho voltou a sentar e a rir, com
evidente contentamento. “Sim, senhor, acho que me sentiria tão orgulhoso
quanto o General. Rafe, passa o cachimbo.”
Choveu o dia todo, e no dia seguinte, e também no outro. Os cães ficavam a
manhã toda circulando furtivamente pela casa, ou faziam breves excursões ao
lado de fora, voltando para se esparramar diante do lume, sonolentos,
malcheirosos e exalando vapor, até serem enxotados da sala por Henry; por duas
vezes, desde a porta, Bayard avistou a raposa, Ellen, desaparecendo com um
acanhamento matreiro no outro lado do terreiro. Com exceção de Henry e de
Jackson, ambos afligidos por um laivo de reumatismo, os outros passavam quase
todo o tempo ao ar livre, sob a chuva. Mas voltavam a se reunir na hora das
refeições, deixando na varanda peças de roupa ensopadas e aproximando da
lareira as botinas enlameadas e fumegantes, enquanto Henry providenciava a
chaleira e a jarra. O último a chegar era Buddy, todo encharcado.
No nicho ao lado da chaminé, Buddy tinha um jeito de aprumar o corpo alto
e esguio a qualquer momento e de sair calado, só voltando dali a duas, seis, doze
ou quarenta e oito horas, e durante esses períodos, a despeito da presença
constante de Jackson, Henry e quase sempre de Lee, o lugar exalava um vago ar
de abandono, até que Bayard notou que a maioria dos cães também estava
ausente. Está caçando, disseram-lhe, quando Buddy ficou fora desde o romper
do dia.
“Por que não me disse nada?”, indagou Bayard.
“Talvez tenha achado que você não fazia questão de sair com esse tempo”,
sugeriu Jackson.
“Buddy não dá a mínima para o tempo”, explicou Henry. “Tanto faz um dia
como o outro.”
“Nada faz muita diferença pro Buddy”, acrescentou Lee, com sua voz
passional e amarga. Ficou cismando diante do fogo, as mãos delicadas
esfregando inquietas os joelhos. “Passou a vida toda nesse fundo de vale, com
um troço frio de pão de milho e a cachorrada como companhia.” De repente
ergueu-se e saiu do aposento. Lee já estava com quase quarenta anos. Havia sido
uma criança doentia.
Supunha-se que estivesse vendo uma jovem que vivia no vilarejo de Mount
Vernon, quase dez quilômetros distante. Passava a maior parte do tempo
cismando solitário pelos campos.
Henry deu uma cusparada na lareira e virou a cabeça na direção do irmão
que acabara de sair. “Ele teve em Vernon ultimamente?”
“Ele e Rafe foram pra lá dois dia atrás”, respondeu Jackson.
“Bem, não vou derreter nessa chuva. Será que ainda consigo alcançar ele?”,
perguntou Bayard.
Meditaram um tempo sobre a questão, enquanto lançavam graves cusparadas
no fogo. “Duvido muito”, disse por fim Jackson. “O Buddy já deve estar a uns
quinze quilômetro daqui. Melhor combinar antes com ele da próxima vez.”
E foi o que fez Bayard, e ele e Buddy passaram a sair para caçar aves nos
campos emaciados sob a chuva, com as espingardas produzindo um som cavo e
plangente que pairava no ar ventoso como uma nódoa cada vez mais
esparramada, ou então exploravam as lagoas estagnadas ao longo do canal
fluvial atrás de patos e gansos; ou, ainda, às vezes com Rafe, caçavam guaxinins
e gatos selvagens no fundo dos vales. Por vezes, ouviam ao longe o ladrar
estridente dos cães jovens em desabalada carreira. “Lá vai a Ellen”, comentava
Buddy.
Então, quando a semana foi chegando ao fim, o tempo melhorou e, num
crepúsculo que prometia geada, com os rastros ainda quentes na terra úmida, o
velho General saiu no encalço da raposa-vermelha que tantas vezes conseguira
se esquivar às suas investidas.
Durante a noite toda, os sons ressonantes retiniam, avolumavam e ecoavam
pelos morros, e todos, com exceção de Henry, cavalgavam na sua direção,
guiados pelos latidos dos cães, mas sobretudo pela misteriosa, e aparentemente
clarividente, habilidade do velho e de Buddy de anteciparem o rumo da
perseguição. Vez por outra tinham de parar enquanto Buddy e o pai
confabulavam sobre a direção que tomaria a presa, mas em geral estavam de
acordo, aparentemente prevendo os movimentos do animal antes mesmo que
este decidisse o que iria fazer; e vez por outra detinham as montarias no topo de
uma colina e aguardavam sob a luz gélida das estrelas até que emergissem das
trevas as vozes dos cães, plangentes e repicadas, soando com intensidade
crescente, mais e mais próximas, ultrapassando-os, invisíveis, a menos de um
quilômetro; e então sumiam pouco a pouco, minguando no ar, como o som de
sinos, de volta ao silêncio.
“Tá pra lá”, exclamou o velho, uma forma indistinta sob o casaco, montado
em um cavalo branco. “Isso sim é que é música pro ouvido de um homem.”
“Lá isso é”, concordou Jackson, “se um cara faz algo porque dá na telha, tem
mais é que fazer isso com prazer.”
“E ninguém pode negar que era alguém que gostava de cantar e gritar”, disse
o senhor MacCallum. “Espantava todos os bicho em quinze quilômetro. Lembro
aquela noite que levantou e disparou numa carreira até a ponte do Samson, e
quando a gente se deu conta, lá tava ele e a raposa boiando rio abaixo agarrados
num tronco, ele cantando o mais alto que podia.”
“Esse era o John, sem tirar nem pôr”, concordou Jackson. “Se divertia à larga
com tudo.”
“Era um menino de ouro”, voltou a dizer o senhor MacCallum.
“Silêncio agora.”
De novo os cães se fizeram ouvir na escuridão lá embaixo. Os latidos
pairaram no ar gelado, abatendo-se em ecos que se repetiam idênticos até se
perder sua origem e até que a própria terra pudesse ter encontrado sua voz, grave
e triste, e desengonçada de tanto pesar.
Dali a dois dias era o Natal, e mais uma vez se reuniram ao redor do lume
após o jantar; mais uma vez o velho General dormitava aos pés de seu dono. No
dia seguinte seria véspera de Natal e iriam de carroça à cidade, e ainda que, com
a grave e infalível hospitalidade que os caracterizava, nada tivessem dito a
respeito de sua partida, Bayard estava convencido de que todos davam por certo
que, no dia seguinte, ele partiria, a fim de passar o Natal em casa, mas, como ele
próprio nada mencionara, também estavam um pouco curiosos, mansamente
especulativos.
A temperatura voltara a cair, e uma friagem intensa fazia as toras
incandescentes estalarem e arremessarem fagulhas perigosas e pequenas brasas
no chão, onde acabavam esmagadas por alguma botina ociosa, e Bayard ali se
quedou sonolento, os músculos exaustos descontraídos nas ondas acumuladas de
calor, como em uma banheira quente, e seu coração atento e obstinado, também
refestelado, pelo menos por um tempo. Amanhã haveria mais do que tempo para
decidir se partiria ou não. Talvez ele simplesmente ficasse ali, sem sequer
oferecer aquela explicação que jamais lhe seria cobrada.
Mas aí ele se deu conta de que Rafe, Lee ou qualquer outro que saísse
conversaria com as pessoas e acabaria sabendo aquilo que ele não tivera a
coragem de lhes contar.
Buddy emergira de seu nicho escuro e agora acocorava-se no centro do
semicírculo, de costas para o fogo e os braços em volta dos joelhos, com sua
capacidade de permanecer imóvel por tempo indefinido sobre os calcanhares.
Ele era o caçula e tinha vinte anos. Sua mãe fora a segunda esposa do velho, e os
olhos cor de avelã e os cabelos ruivos aparados rente à cabeça redonda faziam
um contraste evidente com os olhos castanho-escuros e os cabelos pretos dos
irmãos.
Mas o velho havia estampado as feições de Buddy com tanta nitidez quanto
nos outros, e, a despeito de sua juventude, era parecido com os irmãos —
aquilino e enxuto, circunspecto e sério, ainda que sua tez mais nova e pele mais
suave fossem mais coradas.
Todos os outros eram de estatura média ou baixa, indo desde a magreza
desbotada e vagamente inepta de Jackson, passando pela corpulência plácida de
Henry e a musculosidade equilibrada e atarracada de Rafe — Raphael Semmes
era o nome dele — e de Stuart, até a inquietação magra e ardorosa de Lee; mas
Buddy, esguio como uma árvore jovem, tinha a mesma altura do pai, que
carregava seus setenta e sete anos como se fossem um casaco leve. “Um varapau
salafrário”, dizia o velho, falsamente zombeteiro. “Com tudo o que come só fica
magro assim de maldade.” E ali ficavam sentados em silêncio, contemplando a
comprida silhueta dobrada de Buddy e remoendo todos o mesmo pensamento;
um pensamento que cada qual considerava próprio e que nenhum deles jamais
divulgara — que um dia Buddy iria se casar e perpetuar o nome.
Buddy também levava o nome do pai, embora fosse duvidoso que alguém de
fora da família e do Ministério da Guerra o conhecesse.
Com dezessete anos havia fugido e se alistado; no campo de treinamento da
infantaria em Arkansas, para onde fora enviado, um outro recruta o chamara de
virgem, e Buddy o enfrentara com firmeza e sem ódio durante sete minutos; na
doca de embarque em Nova Jersey, outro homem fizera o mesmo, e Buddy lutara
com ele, também com firmeza e até o fim e sem ódio. Na Europa, ainda
seguindo as profundas mas pouco complexas compulsões de sua índole,
conseguira, inadvertidamente talvez, perpetrar algo que, mais tarde, foi
considerado pelas autoridades como tendo incomodado seriamente o inimigo, e
por isso Buddy ganhara o seu talismã, preferia chamá-lo. Exatamente o que fez,
ninguém o convenceu a contar, e o berloque não só pouco serviu para aplacar a
ira do pai com o fato de um de seus filhos ter combatido no exército federal,
como a acirrou ainda mais, ele jazia escondido entre os objetos escassos de
Buddy, cuja carreira militar jamais era mencionada no círculo familiar; e agora,
como sempre, Buddy estava acocorado no centro desse círculo, de costas para o
fogo e com os braços em torno dos joelhos, enquanto, ao redor do lume, eles
tomavam seus grogues de fim de noite e falavam do Natal.
“Peru”, dizia o velho, com viva e resmoneada aversão. “Com um cercado
cheio de gambá, e um leito de rio cheio de esquilo e pato, e um defumador cheio
de carne de porco, os desgraçados de vocês têm que ir até a cidade e comprar um
peru pro jantar de Natal.”
“Natal não é Natal se um cara não come algo diferente do normal”, sugeriu
Jackson sem se exaltar.
“O que vocês querem é uma desculpa pra ir até a cidade e vadiar o dia todo e
gastar dinheiro”, retrucou o velho. “Já vi muito mais Natal do que você, rapaz, e
se tiver que comprar na loja, não é Natal.”
“E o pessoal da cidade?”, perguntou Rafe. “Então, pro senhor, eles não pode
ter nenhum Natal.”
“Espero que dessa vez peguem ela”, disse Jackson. “Sempre que ela escapa é
um golpe duro pro orgulho do General.”
“Num vão conseguir, não”, disse Buddy. “Quando cansar, ela vai se enfiar
pelas pedra.”
“Então vamos ter de esperar até que os filhotes do Jackson cresçam”,
concordou o velho, “a não ser que se recusem a ir atrás da própria avó. E até
agora têm recusado tudo, menos comida.”
“Vocês ainda vão ver”, repetiu Jackson, incansável. “Quando os filhote
tiverem um pouco maiores...”
“Ouçam...”
A conversa cessou. De novo, através da noite, as vozes dos cães soaram entre
os morros, latidos longos e ressonantes que desmaiavam e morriam em trêmula
suspensão, como sinos ou cordas tangidas, repicados e prolongados; por
reiterados ecos bimbalhantes, esvaindo-se entre os morros escuros sob as
estrelas, pairando ainda nos ouvidos, nítidos como cristal, plangentes e
valorosos, tingidos de melancolia.
“Pena que o Johnny não teja aqui”, disse Stuart, em voz baixa. “Ia adorar
essa caçada.”
“Caçar era com ele mesmo”, concordou Jackson. “Era páreo até pro Buddy.”
“John era um bom rapaz”, disse o velho.
“Lá isso é verdade”, repetiu Jackson, “um cara direito e de bom coração.
Henry diz que ele nunca vinha pra cá sem trazer uma lembrancinha pra Mandy e
pros moleque.”
“Ele nunca se aborrecia em uma caçada”, disse Stuart. “Por mais frio e
úmido que tivesse, mesmo quando era um toquinho de gente, com aquela
espingarda de um cano que comprou com o dinheiro dele, e que dava um coice
dos diabos toda vez que atirava. Mesmo assim ele sempre usava ela, em vez
daquela calibre dezesseis que o coronel deu pra ele, só porque tinha guardado o
dinheiro e comprado ele mesmo.”
“E nem merece ter”, replicou o velho, “morando em terreno de dois por
quatro, encostado no quintal do vizinho, comendo coisa que vem em lata.”
“Vamos supor que eles brigam na cidade”, sugeriu Stuart, “e tenha que
mudar pra cá e ocupar a terra; a gente ia ouvir o papi xingando a cidade então. A
gente não pode viver sem a cidade, é lá que o pessoal fica todo amontoado, papi,
e o senhor sabe disso.”
“Peru de loja”, repetiu o senhor MacCallum, transbordando de nojo.
“Comprar comida. Ainda lembro da época em que pegava uma espingarda e saía
por essa porta e caçava um peru macho em meia hora. Ora, vocês num sabe nada
de Natal. Tudo o que vocês conhece é vitrine de loja com doce de coco e
espingardinha de ar e outras bobajeiras.”
“O senhor tá certo”, disse Rafe, e piscou para Bayard. “O maior erro do
mundo foi quando Lee se entregou. O país nunca mais foi o mesmo.”
O velho fungou. “Maldito seja eu se não criei a rapaziada mais desgraçada e
esperta do mundo. Não diz nada com nada, não aprende nada, não consegue nem
mesmo sentar em volta do fogo sem que todos fiquem me dizendo como dá um
jeito nesse maldito país. Bem, meninos, hora de dormir.”
Na manhã seguinte, Jackson, Rafe, Stuart e Lee seguiram para a cidade ao
romper do dia com a carroça. Mesmo assim, nenhum deles fizera qualquer
alusão, expressara qualquer curiosidade sobre se o encontrariam por lá quando
retornassem à noite, ou se teriam de esperar outros três anos para vê-lo
novamente. E Bayard ficou na varanda esbranquiçada pela geada, fumando um
cigarro na aurora gelada e nítida, e olhou para a carroça com as quatro figuras
encapotadas e também se perguntou se só as veria dali a três anos, ou nunca
mais. Os cães se aproximaram, esfregaram os focinhos em suas pernas e ele
deixou a mão cair entre seus narizes gelados e as lambidas quentes de suas
línguas, enquanto fitava as árvores através das quais o chacoalhar seco da
carroça chegava desimpedido na manhã clara e silenciosa.
“Pronto?”, disse Buddy às suas costas, e ele se virou e agarrou a espingarda
encostada à parede. Os cães agitaram-se à roda deles com ganidos impacientes e
hálitos gelados, e então Buddy os levou até o cercado e os meteu lá dentro e
fechou o portão diante de seus protestos perplexos. De outro canil tirou Dan, um
filhote de pointer. Atrás deles, os cães continuaram a emitir as suas queixas
desconcertadas e brandas.
Até o meio-dia, no ar cada vez mais cálido, caçaram na orla da mata e nos
campos fragmentados e maninhos. Logo a geada sumiu e o tempo esquentou até
um langor sem vento, e por duas vezes nas moitas de urzes avistaram pássaros
avermelhados disparando como setas de chamas rubras. Por fim Bayard ergueu
os olhos e fitou o sol sem piscar.
“Tenho que voltar, Buddy”, disse. “Hoje à tarde vou para casa.”
“Tá bem”, concordou Buddy sem protestar, e chamou de volta o cão. “Venha
no mês que vem.”
Mandy trouxe-lhes comida fria e eles comeram; depois, enquanto Buddy
selava Perry, Bayard foi até a casa, onde encontrou Henry colocando
laboriosamente solas em um par de botinas, enquanto o velho lia um jornal de
uma semana antes com óculos de armação metálica.
“Imagino que o seu pessoal deve estar esperando por você”, assentiu o
senhor MacCallum, tirando os óculos. “Mas contamos com você aqui no mês
que vem, pra gente pegar aquela raposa. Se não fizermos isso logo, o General
não vai conseguir se manter de cabeça erguida diante dos filhotes.”
“Sim, senhor”, respondeu Bayard. “Volto, sim.”
“E traz o seu vô junto com você. Ele pode ficar descansando por aqui e
estourar de comer tanto quanto naquela cidade.”
“Vou tentar, senhor.”
Buddy trouxe o cavalo, e o velho estendeu a mão sem se erguer.
Henry pôs de lado suas ferramentas e o acompanhou até a varanda.
“Venha de novo”, disse timidamente, tomando a mão de Bayard e movendo-
a em um único movimento vigoroso e, do meio de uma confusão de lambidas e
curiosidade de cães ainda jovens, Buddy estendeu-lhe a mão.
“Toma cuidado”, disse laconicamente, e Bayard partiu; quando olhou para
trás, eles ergueram as mãos, sérios. Então Buddy chamou-o com um grito, e ele
deteve Perry e fez meia-volta. Henry havia sumido e reapareceu trazendo um
saco de aniagem com algo pesado.
“Quase ia esquecendo”, disse. “Garrafão de uísque que o papi tá mandando
pro seu vô. Não tem nada melhor que isso em Louisville nem em nenhum outro
lugar”, acrescentou com orgulho sereno.
Bayard agradeceu-lhe e Buddy prendeu o saco na sela, onde ficou firme
junto à perna do cavaleiro.
“Aí está. Vai ficar bem.”
“É, vai sim. Muito obrigado.”
“Até mais.”
“Até.”
Perry moveu-se e ele olhou para trás. Ainda estavam lá, calmos, sérios e
imóveis. Junto à porta da cozinha, Ellen, sentada, o observava
dissimuladamente; perto dela, os filhotes rolavam e brincavam à luz do sol. O
sol estava um pouco acima da serra a Oeste; o caminho serpenteava e perdia-se
no arvoredo. Voltou a olhar para trás. A casa esparramava-se em sua extensão
irregular na tarde invernal, sua fumaça como uma pluma ereta no céu sem vento.
A porta estava vazia, e ele fez com que Perry seguisse em trote confortável e
sossegado, o garrafão de uísque chacoalhando ligeiramente contra o seu joelho.
5.
Ali onde o caminho vago e pouco trilhado que levava aos MacCallum subia
e desembocava na estrada principal, ele deteve Perry e ficou um tempo parado
no crepúsculo. Jefferson, vinte e dois quilômetros. Rafe e os outros rapazes ainda
iriam demorar um pouco, sobretudo sendo véspera de Natal e com a reunião
festiva e sem pressa do pessoal do condado na cidade. Ainda assim, poderiam ter
saído mais cedo, de modo a chegar em casa ao anoitecer; nesse caso, passariam
por ali em uma hora. Oblíquos, os raios de sol libertaram a frialdade que haviam
mantido aprisionada no solo durante as horas perpendiculares, e ela lentamente o
envolveu enquanto estava parado com Perry no meio da estrada, e lentamente
seu sangue esfriou com a interrupção do movimento do cavalo. Bayard moveu a
cabeça deste para o lado oposto da cidade e fez com que retomasse o trote
descansado.
A escuridão logo o alcançou, mas ele continuou cavalgando sob as árvores
desfolhadas, seguindo pelo caminho palidamente iluminado pelas estrelas. Perry,
contudo, já estava pensando em estábulo e comida e seguiu adiante com
movimentos hesitantes e inquisitivos da cabeça, mas obedientemente e mantendo
a marcha, sem saber para onde estavam indo ou por que motivo, salvo que era
para longe de casa, e de modo um pouco dúbio, mas confiante. O frio aumentava
em meio ao silêncio, à solidão e à monotonia. Bayard fez com que Perry parasse,
soltou o saco com o garrafão e bebeu um pouco, e depois o prendeu de novo na
sela.
Os morros elevavam-se escuros e desolados em torno. Não havia sinal de
moradias, nenhuma marca da mão humana. À toda volta as colinas estendiam-se
escuras à luz das estrelas, ou então, quando a estrada mergulhava pelos vales
onde os sulcos começavam a endurecer em cristas duras como ferro e que
ressoavam sob os cascos de Perry, assomavam sombria e sinistramente sobre
eles, com suas árvores desfolhadas erguidas contra o firmamento reluzente. Um
regato de degelo cruzava a trilha, e ali as patas de Perry estalaram secamente no
gelo fino, e Bayard afrouxou as rédeas enquanto o cavalo farejava a água. Ele
bebeu de novo do garrafão.
Em seguida, manuseou desajeitadamente um fósforo com os dedos
entorpecidos e acendeu um cigarro, arregaçando um pouco a manga sobre o
pulso. Onze e meia. “Bem, Perry”, sua voz soou alta e abrupta em meio à
imobilidade, à escuridão e ao frio, “acho melhor a gente encontrar um lugar para
se entocar até amanhecer.
Perry levantou a cabeça e resfolegou, como se entendesse as palavras, como
se estivesse pronto, caso pudesse, a partilhar a solidão desolada na qual se movia
o cavaleiro. Seguiram adiante, outra vez subindo.
A escuridão se alastrava, atenuando-se logo adiante, onde campos ocasionais
jaziam sob a luz vaga das estrelas, rompendo a monotonia dos arvoredos; e após
um trecho em que cavalgou com as rédeas frouxas sobre o pescoço de Perry e as
mãos nos bolsos, buscando calor entre o couro e a virilha, viu um armazém de
algodão escarranchado à beira do caminho, o telhado recoberto por fina película
prateada de geada. Falta pouco, disse para si mesmo, inclinando-se para a frente
e colocando a mão no pescoço de Perry, sentindo ali o sangue quente e
incansável. “Logo mais deve ter uma casa, Perry, basta prestar atenção.”
De novo, Perry deu um breve relincho, como se entendesse, e pouco depois
saiu da estrada; enquanto puxava as rédeas, Bayard também distinguiu a débil
trilha de carroça que conduzia a um arvoredo vago e baixo. “Muito bem, Perry”,
disse, afrouxando outra vez as rédeas.
A casa era um barraco. Estava às escuras, mas um cão esquelético saiu de
debaixo dela, começou a latir e continuou ladrando enquanto ele detinha Perry
junto à porta e ali batia com a mão dormente. Do interior por fim ouviu uma voz,
e gritou outra vez “ô de casa”. Em seguida acrescentou: “Estou perdido. Preciso
de ajuda”. Incansável, o cão continuava a ladrar. Um instante depois, a porta se
entreabriu, revelando o brilho mortiço de brasas e o fedor de negros, e uma
cabeça surgiu na fenda de calor.
“Ei, Jule”, ordenou a cabeça, “cala a boca.” O cão parou de latir
obedientemente e enfiou-se sob a casa, ainda rosnando. “Quem tá aí?”
“Me perdi”, repetiu Bayard. “Posso passar a noite no seu estábulo?”
“Num tenho estábulo, não”, respondeu o negro. “Tem outra casa mais
adiante na estrada.”
“Eu pago”, insistiu Bayard, tateando o bolso com a mão adormecida. “Meu
cavalo está exausto.”
Ainda na porta, a cabeça do negro espiou em torno, delineada pela fenda
iluminada pelo fogo. “Vamos lá, tio”, acrescentou Bayard com impaciência.
“Não deixe um homem esperando nesse frio.”
“Quem é você, branco?”
“Bayard Sartoris, de Jefferson. Prazer.”
E estendeu a mão, mas o negro não fez nenhum esforço para apertá-la.
“Parente do Sartoris do banco?”
“É. Prazer.”
“Pera aí.”
A porta se fechou. Mas Bayard apertou as rédeas e Perry reagiu prontamente,
rodeou confiante o barraco e continuou por entre os talos enregelados de
algodoeiros que estralejavam em volta de seus joelhos. Enquanto Bayard
desmontava e pisava a terra gretada e gélida sob um portão escancarado, uma
lamparina apareceu no barraco, balançando rente aos talos carcomidos e o escuro
tesourar das pernas do homem. O negro aproximou-se com um fardo disforme
sob o braço e segurou a lamparina no alto enquanto Bayard tirava a sela e a
brida.
“Como conseguiu chegar tão longe de casa a essa hora da noite, branco?”,
perguntou ele curioso.
“Me perdi”, respondeu Bayard laconicamente. “Onde posso deixar o
cavalo?”
O negro levou a lamparina até uma cocheira. Perry passou com cuidado pela
soleira e virou-se para onde estava a luz da lamparina, os olhos revirando com
lampejos fosforescentes; Bayard o acompanhou e o esfregou com o lado seco do
cobertor da sela. O negro havia sumido, mas logo apareceu com espigas de
milho e jogou-as na manjedoura ao lado do ávido focinho do cavalo. “Nhô toma
cuidado com o fogo, num é?”
“Claro. Não vou acender nenhum fósforo.”
“Todo os meus bicho e traste e comida tão aqui”, explicou o negro.
“Se pegá fogo, tô perdido. Aqui é longe da cidade e num tem seguro, não.”
“Claro”, repetiu Bayard. Fechou a baia de Perry e, sob o olhar do negro,
puxou o saco que havia posto junto à parede e tirou o garrafão.
“Tem uma caneca aqui?” O negro sumiu de novo; Bayard podia ver a
lanterna pelas frestas na parede oposta; e veio com uma lata enferrujada da qual
soprou uma nuvem de palhiça. Ambos beberam.
Atrás deles, Perry mascava ruidosamente o milho. O negro indicou-lhe a
escada para o palheiro.
“Nhô num esquece do fogo, hein, branco?”, repetiu preocupado.
“Pode ficar tranquilo”, disse Bayard. “Boa noite.” Ao pôr a mão na escada, o
negro o deteve e passou-lhe o fardo disforme que trouxera.
“Só tem um sobrando, mas quebra um galho. Nhô vai passar frio essa noite.”
Era uma colcha, esfarrapada e imunda, impregnada daquele odor inconfundível
de negro.
“Obrigado”, respondeu Bayard. “Estou muito agradecido. Boa noite.”
“Boa noite.”
A luz da lamparina foi se afastando às piscadelas, conforme se cruzavam as
pernas do negro, e Bayard subiu até a escuridão e o aroma seco e pungente do
feno. No escuro preparou um ninho para si, engatinhou para dentro dele e se
enrolou na colcha, apesar de imunda e fedorenta, enfiando as mãos enregeladas
dentro da camisa, contra o peito relutante. Lentamente as mãos começaram a se
aquecer, formigando um pouco, mas ainda assim seu corpo tremia e se sacudia
de cansaço e frio. Abaixo dele, Perry continuava mastigando calmamente no
escuro, de vez em quando batendo as patas, e aos poucos cessaram os tremores
no corpo de Bayard. Antes de cair no sono, descobriu o braço e espiou o
mostrador luminoso no pulso. Uma hora.
Já era Natal.
O sol o despertou, incidindo em faixas rubras pelas fendas da parede, e ali
ficou deitado no leito duro, sentindo o ar frio e límpido no rosto como água
gelada, tentando se lembrar de onde estava. Então se deu conta e, ao se mover,
viu que estava enrijecido pelo frio que lhe impregnara o corpo e que o sangue
começava a circular por seus membros em pequenas pelotas, como chumbo de
matar passarinho. Arrastou as pernas do leito malcheiroso, mas ao calçar as
botinas não sentiu os pés, e ficou sentado mexendo por um tempo os joelhos e os
calcanhares antes que os pés se reanimassem como se picados por agulhas.
Com movimentos rígidos e desajeitados, desceu a escada aos poucos e com
cuidado, expondo-se ao sol avermelhado que caía como um soar de trombetas na
entrada do galpão. O sol acabara de assomar no horizonte, imenso e vermelho, e
o telhado da casa, as estacas da cerca, os implementos agrícolas que
enferrujavam no terreiro e os talos mortos de algodoeiros onde o negro havia
cultivado a terra quase até as portas do fundo do barraco, todos estavam
recobertos de geada que o sol transformava em uma cobertura cintilante e
rosada, como a de um bolo festivo. Perry enfiou a cabeça esguia pela porta da
baia e relinchou para o seu dono uma saudação vaporosa; Bayard falou com ele e
acariciou-lhe o focinho gelado. Em seguida, desatou o saco de aniagem e bebeu
do garrafão. O negro apareceu à porta com um balde para recolher leite.
“Feliz Natal, sinhô”, cumprimentou, olhando de soslaio o garrafão.
Bayard o estendeu para que bebesse. “Brigado, nhô. Vai lá pra casa e fica
perto do fogo. Dou de comer pro seu cavalo. A velha preparou algo pro sinhô.”
Bayard pegou o saco com o garrafão; no poço atrás do barraco, puxou um balde
de água gélida e lavou o rosto.
Um fogo crepitava na lareira arruinada, entre cinzas, tocos chamuscados e
uma mixórdia de potes e panelas. Bayard fechou a porta atrás de si, deixando
fora o frio brilhante, e um fedor rançoso, quente e opulento o envolveu como
uma droga. Uma mulher, debruçada sobre o fogo, respondeu timidamente ao seu
cumprimento. Três crianças pequenas estavam paralisadas num canto e o
observavam revirando os olhos. Uma delas era uma menina vestindo trapos
sebentos e indistintos, sua carapinha retorcida e presa com nós apertados de tiras
sujas de pano colorido. A outra poderia ser de qualquer sexo, ou de nenhum. A
terceira mal se distinguia sob os retalhos de roupas de baixo de lã masculinas.
Esta era pequena demais para andar e engatinhava pelo chão em uma espécie de
perambulação obstinada, uma trilha vítrea escorrendo de cada narina até o
queixo, como se caramujos tivessem passado por ali.
A mulher arrastou uma cadeira para perto do fogo com um gesto escuro e
apagado. Bayard sentou-se e aproximou do calor os pés enregelados. “Já tomou
seu trago de Natal, tia?”, perguntou.
“Não, sinhô. Num tomei nada esse ano”, respondeu ela de algum ponto atrás
dele. Ele empurrou o saco na direção da voz.
“Aproveita, então. Aí tem bastante.” As três crianças estavam agachadas
contra a parede, fitando-o sem parar, sem fazer nenhum movimento ou ruído.
“Papai Noel já passou por aqui, crianças?”, perguntou a elas. Mas continuaram
mudas, a fitá-lo com a gravidade atenta dos animais, até que a mulher voltou e
dirigiu-se a elas em tom de censura.
“Mostra pro sinhô o que o Papai Noel trouxe pra vocês”, incentivou.
“Brigada, sinhô”, acrescentou, pondo um prato de lata nos joelhos dele e
uma xícara rachada junto de seus pés. “Mostra pra ele”, repetiu. “Vocês querem
que as pessoa pensa que o Papai Noel num sabe onde vocês mora?”
Então as crianças se mexeram e, da escuridão no fundo, onde haviam se
escondido quando ele entrou, tiraram um carrinho de lata, um colar de contas de
madeira coloridas, um espelhinho e um enorme pirulito de hortelã ao qual
aderira sujeira e que logo começaram a lamber solenemente, cada qual em sua
vez. A mulher encheu a xícara com café do bule aninhado entre as brasas,
destampou uma frigideira de ferro e, com um garfo, levou ao prato dele um
grosso naco de carne crepitante, e recolheu algo cinzento do meio das cinzas,
quebrou-o ao meio, espanou-o e colocou-o também no prato.
Bayard comeu a carne e o bolo de milho e tomou o líquido ralo e insípido.
As crianças agora brincavam sossegadas com os brinquedos, mas de tempos em
tempos ele notava que paravam e o observavam de esguelha. O homem entrou
com o balde de leite.
“A velha deu de comer pro sinhô?”
“Deu. Qual é a cidade mais perto na linha do trem?” O negro o informou —
ficava a treze quilômetros. “Você me leva até lá e depois devolve o cavalo para o
senhor MacCallum mais adiante nessa semana?”
“Meu cunhado levou minhas mulas”, respondeu prontamente o negro.
“Tenho só uma parelha, e ele levou ela embora.”
“Eu pago cinco dólares.”
O negro baixou o balde, a mulher se aproximou e o levou. Então coçou
lentamente a cabeça.
“Cinco dólares”, repetiu Bayard.
“O sinhô tá com uma pressa danada pro Natal...”
“Dez dólares”, disse Bayard impaciente. “Não dá pra pegar as mulas com seu
cunhado?”
“Acho que dá. Acho que ele pode trazer elas até a hora do almoço. Aí a gente
pode ir.”
“Não dá para buscar as mulas agora? Pegue o cavalo e vá até lá buscar.
Preciso pegar o trem.”
“Ainda não proveitei o Natal, sinhô. Quem trabalha o ano todo precisa de um
poco de Natal.”
Bayard resmungou desolado, mas disse: “Está bem. Logo depois do almoço.
Mas faça com que seu cunhado traga elas a tempo.”
“Elas vão tá aqui; não esquenta, não.”
“Está bem. Você e a tia podem beber do garrafão.”
“Brigado, sinhô.”
O ar parado e rançoso do aposento o entorpeceu; o calor penetrou em seus
ossos, cansados e rígidos depois de toda a frialdade da noite. Os negros
circulavam pelo aposento único, a mulher ocupada com a comida no fogo, as
crianças com as bugigangas frugais e tristes e com o pirulito emporcalhado.
Bayard permaneceu sentado na cadeira dura e dormitou enquanto passava a
manhã — não chegou a dormir, mas o tempo perdeu-se em uma região sem
tempo onde ele pairava semidesperto e na qual percebeu, depois de um longo
intervalo, que algo tentava penetrar; e observou as vãs tentativas com um calmo
alheamento. Mas por fim ela foi bem-sucedida e o alcançou: uma voz. “A
comida tá pronta.”
Os negros beberam com ele, amistosamente e com certa timidez — dois
conceitos opostos e hostis pela raça, o sangue, a natureza e o ambiente, tocando-
se por um instante e fundindo-se nos limites de uma ilusão –, a humanidade
deixando de lado por um dia o desejo e a covardia e a avidez. “Feliz Natal”,
murmurou a mulher timidamente.
“Brigado, sinhô.”
E depois a comida: gambá com inhame, mais bolo de milho com cinzas, o
líquido insípido e ralo do bule, uma dúzia de bananas e pedaços pontudos de
coco; as crianças engatinhando entre seus pés como animais, farejando a comida.
Afinal notou que estavam esperando até que tivesse acabado, mas acabou por
convencê-los e comeram juntos; e, para arrematar (as mulas miraculosamente
devolvidas por um cunhado invisível), com o garrafão quase vazio entre os pés
na carroça, ele se virou e contemplou o barraco, a mulher em pé junto à porta, e
um penacho pálido e imóvel de fumaça saindo da chaminé.
Sobre as costelas expostas das mulas estalavam e retiniam os arreios
esfrangalhados. O ar estava cálido, mas mesclado a uma sutil destilação de
friagem que só iria se acentuar com a escuridão. A estrada estendia-se pela terra
luminosa. De tempos em tempos, de trás dos carriços reluzentes ou dos
arvoredos pardos e desfolhados, vinham os sons cavos de tiros; ocasionalmente
passavam por outras carroças, cavaleiros ou pedestres que acenavam com mãos
calmas e escuras para o negro todo abotoado em seu casaco militar, lançando
olhares breves e dissimulados para o homem branco ao lado.
“Eia, Feliz Natal!” Além dos carriços amarelos e serras pardacentas, os
derradeiros morros assomavam azulados, destacando-se diante do céu imenso.
Eles pararam e beberam, e Bayard ofereceu um cigarro ao seu companheiro.
Agora estavam com o sol às costas; nenhuma nuvem, nenhuma brisa, nenhum
pássaro no cobalto sereno e pálido. “Ê dia curto! Mais seis quilômetro ainda.
Eia, mula!” Entre os salgueiros imóveis, obstinadamente verdes, um estrépito
seco de tábuas soltas sobre a água com seus lampejos murmurantes. A estrada
subia avermelhada; os pinheiros erguiam-se contra o céu em bastiões denteados.
Chegaram ao topo, e um planalto se descortinou diante deles com seu
mosaico de carriços reluzentes, escuros campos maninhos, capões pardacentos,
aqui e ali uma casa e, mais adiante na névoa azulada e bruxuleante, bem próximo
ao horizonte, fumaça. “Três quilômetro agora.” Atrás deles o sol era um balão
acobreado que ainda ficaria por mais uma hora no céu. Voltaram a beber do
garrafão.
Quando o sol encostou no horizonte avistaram embaixo o derradeiro vale,
onde os trilhos cintilantes da ferrovia desapareciam entre telhados e árvores, e
através do ar chegou de longe até eles um ruído lento e forte de explosão. “Ainda
tão comemorando”, comentou o negro.
Saíram do sol e desceram para a sombra violácea onde janelas reluziam atrás
de grinaldas e sinos de papel, diante de alpendres juncados de bombinhas
estouradas. Nas ruas, crianças com suéteres e casacos de cores vivas brincavam
com trenós, patins e carrinhos.
Outro estouro adiante rompeu o lusco-fusco, e então desembocaram na praça
em seu sossego de feriado, também repleta de pedaços de papel estraçalhados.
Era assim também em sua cidade, sabia ele, com os homens e rapazes que
conhecia desde a infância descansando durante o feriado, bebendo um pouco,
estourando bombinhas, passeando e distribuindo moedinhas aos moleques
negros que gritavam: “Feliz Natal! Feliz Natal!”. E, em sua casa, a árvore de
Natal na sala e uma poncheira com gemada diante da lareira, e Simon entrando
no quarto dele e de Johnny, tenso e desajeitado na ponta dos pés, segurando o
fôlego sobre a cama na qual fingiam dormir até ele se descontrair, e aí ambos
gritavam “Feliz Natal!”, para desgosto e decepção dele. “Ora, ora, num é que me
pegaram de novo!” Mas no meio da manhã ele já havia se recuperado, chegando
ao almoço em um estado de afável e ociosa loquacidade e, no começo da noite,
estaria completamente hors de combat, com a tia Jenny furiosa, jurando que,
enquanto tivesse saúde e Júpiter lhe acudisse, nunca mais sua casa seria
transformada em um boteco para negros vadios. Então, depois de escurecer, um
baile em alguma parte, com azevinho, visgo e serpentina, e as jovens que
conhecia desde pequeno com seus novos braceletes, relógios e leques no meio de
luzes, música e riso esfuziante...
Havia um grupinho numa esquina, e quando a carroça passou por ali,
precedida por abrupta debandada, uma chama amarelada delineou-se no
crepúsculo e a forte explosão reverberou em ecos lerdos entre as paredes
silenciosas. As mulas se apressaram em seus arreios e a carroça disparou
sacolejando. Através do lusco-fusco, desde as portas iluminadas de onde
pendiam grinaldas e sinos, vozes chamavam com suave insistência, e as vozes
infantis replicavam, queixosas, pesarosas e relutantes. Mais adiante estava a
estação ferroviária, diante da qual havia uma jardineira e quatro ou cinco carros.
Ali Bayard desceu e o negro lhe passou o saco.
“Muito obrigado”, despediu-se Bayard. “Até mais.”
“Té mais, sinhô.”
Na sala de espera, um aquecedor brilhava incandescente, e aqui e ali viam-se
grupos animados com casacos e peles elegantes, mas ele não entrou. Encostou o
saco na parede e ficou andando de um lado para o outro na plataforma,
reaquecendo seu sangue. Em ambas as direções ao longo dos trilhos, luzes de
sinalização brilhavam esverdeadas na penumbra; logo acima das árvores, a
Oeste, a estrela vespertina mais parecia uma lâmpada elétrica numa parede de
vidro. Ele caminhava pesadamente de um lado para o outro, lançando olhares às
janelas avermelhadas e à sala de espera onde os grupos alegres com casacos e
peles gesticulavam em animação festiva e muda, e também à sala de espera do
pessoal de cor, com seus ocupantes sentados pacientemente e murmurando em
volta do aquecedor sob a luz esquálida. Ao fazer a meia-volta ali, uma voz
elevou-se timidamente da sombra ao lado da porta. “Feliz Natal, sinhô.” Sem se
deter, tirou uma moedinha do bolso. De novo veio da praça o som de uma
bombinha estourando, e sobre as árvores um foguete traçou um arco, imobilizou-
se um instante, abrindo-se em seguida como um punho, estendendo
silenciosamente os dedos dourados e evanescentes no tranquilo céu de anil.
Logo chegou o trem e suas janelas iluminadas pararam com um ruído
estridente. Ele recolheu o saco de aniagem e, em meio à jovial multidão que
gritava despedidas, votos de boas-festas e recados para pessoas ausentes, subiu
no trem. Com a barba por fazer, botinas estropiadas, calça de brim suja, o paletó
de tweed cinza enxovalhado e o vergonhoso chapéu de feltro, achou um assento
vago e acomodou o garrafão sob as pernas.
PARTE CINCO
1.
“...e como a essência da primavera é a solidão, um tanto de
tristeza e um leve sentimento de frustração, imagino que se consiga
uma purificação mais aguçada quando se acrescenta, como reforço,
uma dose de nostalgia. Em casa, sempre me flagrava lembrando de
macieiras, de caminhos na relva ou da cor do mar em outros lugares,
e ficava triste de não poder estar em todas as partes ao mesmo tempo,
ou de que todas as primaveras não fossem uma única primavera, tal
como as bocas das mulheres de Byron. Mas agora julgo estar
unificado e concentrado em um único objeto muito definido, o que é,
afinal, algo que se pode dizer a meu favor.”
A caneta se deteve e Horace contemplou a folha toda rabiscada com uma
letra praticamente ilegível, enquanto as palavras que acabara de traçar ecoavam-
lhe no espírito com uma tristeza ligeiramente galante e caprichosa; e nesse
instante deixou a mesa, o quarto, a cidade e toda a crua e estridente novidade que
lhe impusera o destino, e mais uma vez a futilidade desenfreada e fantasiosa que
o caracterizava percorreu desimpedida a região solitária na qual por fim
concentrara seus aspectos conflitantes. Já os talos grossos ao longo dos beirais
da varanda iriam desabrochar em pequenos pontos de cor lilás, e sem qualquer
esforço podia ver o gramado sob os cedros salpicado ao acaso de narcisos entre
outros tantos junquilhos, e os gladíolos aguardando a hora de florescer.
No entanto, o seu corpo permaneceu imóvel, a mão com a caneta imóvel
sobre a folha rabiscada. O papel estava pousado na superfície amarela polida da
escrivaninha nova. Igualmente nova era a cadeira na qual estava sentado, assim
como o quarto com as paredes brancas opacas e os lambris imitando carvalho.
Durante o dia todo, o sol o fustigou, sem ser amenizado por nenhuma persiana.
Nos dias do início da primavera, até se mostrara ameno, incidindo, como agora,
pela janela do Oeste e do outro lado da mesa onde um jacinto branco floresceu
em um vaso de cerâmica esmaltada e granadina. Porém, enquanto ali se quedava
a cismar, olhando pela janela onde, além de um telhado alcatroado que absorvia
calor como uma esponja e o irradiava, e junto ao muro de tijolos um grupo de
disformes árvores-do-céu erguia florações tímidas e mesquinhas, invadiu-lhe o
pavor dos longos e escaldantes dias de verão, com os raios de sol incidindo no
telhado acima de sua cabeça; e lembrou-se do escritório sombrio e mofado em
casa, no qual sempre parecia soprar uma brisa, com as compactas fileiras de
livros empoeirados e impassíveis, dos quais parecia emanar frialdade e quietude
até mesmo nos dias mais quentes.
E ao pensar nisso, afastou-se de novo da dura novidade na qual acomodava
seu corpo. A caneta voltou a se mover.
“Talvez a fortitude seja uma pífia imitação de algo que valha a
pena, no fim das contas, para aqueles tantos que se entocam como
toupeiras na escuridão, ou como as corujas, para quem é excessiva a
chama de uma candeia. Mas não para aqueles que guardam consigo a
paz como a chama da candeia guarda a luz. Sempre fui regido por
palavras, mas parece que posso até mesmo restaurar confiança à
minha própria covardia ao enganá-la um pouco. Ouso dizer que você
não deve ler isto como sempre, e se o fizer, isto nada vai significar
para você. Mas de qualquer modo terá cumprido sua função, tu, ainda
virginal noiva da quietude…”
“Eras mais feliz em tua gaiola, mais feliz?”, pensou Horace, lendo as
palavras que havia escrito e nas quais, como de hábito, lavava a roupa suja de
uma mulher na casa de outra.
Uma brisa leve soprou de repente no quarto, trazendo um cheiro adocicado
de robínia, e fez o papel se mover na mesa, despertando-o, então subitamente,
como alguém ao acordar, ele deu uma espiada no relógio, guardou-o de volta e
retomou apressado:
“Estamos contentes com a pequena Belle. Ela gosta daqui; há
todo um bando de meninas na casa vizinha; uma escadinha de rabos
de cavalo diante dos quais, verdade seja dita, a pequena Belle se
vangloria, mas só um pouco; ela as trata com condescendência, como
por direito de nascença. As crianças fazem toda a diferença do mundo
em uma casa. Pena que os corretores não perceberam isso, senão já
alugariam as casas com crianças. Sobretudo uma como a pequena
Belle, tão séria e brilhante, e com um tipo de maturidade irrelevante e
intensa. Mas você não a conhece muito bem, não é?
Estamos ambos muito contentes de tê-la aqui conosco. Acho que
Harry…”
A caneta ficou imóvel e, sem tirá-la do papel, buscou as palavras que
raramente lhe escapavam, percebendo então que, ainda que seja possível mentir
a respeito dos outros com presteza e extemporaneamente, mentir sobre si mesmo
requer ponderação e uma forma de expressão meditada. Então voltou a espiar o
relógio e riscou as últimas palavras, substituindo-as por “Belle manda beijos, ó
Sereníssima”, em seguida secou a tinta, dobrou a folha e a enfiou num envelope,
que foi devidamente sobrescritado e selado. Depois levantou-se e pegou o
chapéu. Se corresse, ainda poderia enviá-la pelo trem das quatro.
2.
Em janeiro, a tia recebeu de Bayard um cartão-postal enviado de Tampico;
um mês depois, da Cidade do México, chegou um telegrama com um pedido de
dinheiro. E este foi o derradeiro sinal de que pretendia permanecer num local o
tempo suficiente para que alguma mensagem o alcançasse, embora vez por outra
indicasse, por meio de cartões-postais vistosos, com o seu jeito brutal e soturno,
onde havia passado. Em abril veio um cartão do Rio, seguido por um intervalo
durante o qual parecia ter desaparecido por completo e que a senhorita Jenny e
Narcissa passaram sossegadamente em casa, seus dias girando placidamente em
torno da criança esperada, que a senhorita Jenny já chamava de John.
A senhorita Jenny convenceu-se de que o Bayard Velho havia de algum
modo escarnecido de todos, tendo cometido lesa-majestade contra seus
antepassados e o opulento glamour da sina familiar ao morrer praticamente “pelo
avesso”, como dizia. Por isso, caíra em desgraça para ela, e como o jovem
Bayard encontrava-se mais ou menos em estado de dormência, nem presente
nem ausente, ela passou a falar mais e mais de John. Logo após a morte do
Bayard Velho, em um surto repentino de arrumação e movimentação que
chamou de limpeza de inverno, ela topara entre as relíquias de sua mãe com um
retrato em miniatura de John feito por um pintor de Nova Orleans, de uma época
em que John e Bayard tinham por volta de oito anos.
A senhorita Jenny lembrava-se de que havia uma miniatura de cada um
deles, e parecia-lhe que guardara ambas por ocasião da morte da mãe dos
gêmeos. Mas não conseguiu achar a outra. Por isso, encarregou Simon de
arrumar a bagunça que fizera e levou para baixo o retrato, a fim de mostrá-lo a
Narcissa no escritório, onde ambas o examinaram.
Mesmo naquela época tão precoce, os cabelos eram de um viçoso tom
castanho-amarelado, e bem compridos. “Lembro daquele primeiro dia”, contou a
senhorita Jenny, “quando voltaram da escola. Ensanguentados como porcos, os
dois, de tanto brigar com os outros meninos, que diziam que eles pareciam
meninas. Enquanto a mãe os limpava e mimava, eles não estavam nem aí,
vangloriando-se sem parar, para o Simon e o Bayard, sobre a carnificina que
haviam feito. ‘Precisavam ver como eles ficaram’, o John repetia sem parar.
Claro que o Bayard ficou uma fera; disse que era uma maldita vergonha mandar
um menino para a rua com cachinhos que chegavam às costas, e por fim obrigou
a pobre mulher a deixar que o Simon lhes cortasse os cabelos. E sabe o que
aconteceu? Nenhum deles queria que mexessem em um fio de seus cabelos.
Aparentemente ainda havia alguns meninos que não haviam surrado, e agora
estavam dispostos a fazer com que a escola toda admitisse que poderiam deixar
o cabelo crescer até os pés se quisessem. E acho que conseguiram, porque depois
de mais dois ou três dias de sangue, afinal voltaram para casa sem nenhum
ferimento novo, e só então deixaram que o Simon cortasse os cachos, enquanto a
mãe ficava sentada aos prantos diante do piano na sala. E isso foi quando
frequentavam a escola daqui. Não sei por que continuaram brigando depois que
passaram a estudar fora, mas sempre havia algo. Por isso que por fim tiveram de
ser separados quando estavam na Virgínia, e John foi para Princeton. Jogaram
dados, ou algo assim, para ver quem seria expulso primeiro, acho eu, e quando
Johnny perdeu, costumavam se encontrar em Nova York uma vez por mês.
Encontrei umas cartas na escrivaninha de Bayard que o chefe de polícia de Nova
York mandou para os professores em Princeton e na Virgínia, pedindo a eles que
não permitissem que Bayard e John voltassem outra vez para lá, e essas cartas os
professores encaminharam para nós. Uma vez o Bayard teve de pagar uma
fiança de mil e quinhentos dólares por algo que os dois fizeram a um policial ou
garçom ou algo assim.”
A senhorita Jenny continuou a falar, mas Narcissa deixou de prestar atenção.
Estava examinando o rosto pintado na miniatura. Era um rosto de criança que a
fitava, e também era o rosto de Bayard, mas nele já havia, em vez daquela
arrogância desolada que tão bem viera a conhecer, uma espécie de
espontaneidade franca, cálida e viva e generosa; enquanto Narcissa segurava na
mão a pequena oval com os olhos azuis e firmes devolvendo-lhe calmamente o
olhar, de todo aquele rosto, entre os cachos castanho-amarelados, com sua pele
macia e boca infantil, emanava, tal uma cálida irradiação, algo doce e folgazão e
travesso, e então ela se deu conta, como nunca antes, da tragédia cega dos
acontecimentos humanos. E enquanto ficou ali sentada, imóvel, com o medalhão
na mão, com a senhorita Jenny crente que o examinava, na verdade acalentava a
criança sob o seu próprio coração com toda a constância de sua índole: como se
já pudesse discernir a forma escura daquela sina em que havia incorrido, em pé
ao lado da cadeira, aguardando pacientemente a sua hora. “Não, não”,
murmurou, protestando passionalmente, envolvendo o filho em ondas sucessivas
daquela força que manava tão copiosa dentro dela com a passagem dos dias,
guarnecendo suas muralhas com tropas invisíveis. Estava até mesmo contente
que a senhorita Jenny lhe mostrara o medalhão: agora havia sido alertada, e
estava preparada.
Entretanto, a senhorita Jenny continuava a chamar a criança de Johnny e a
relembrar histórias da infância daquele outro John, até que por fim Narcissa
percebeu que a senhorita Jenny estava confundindo as duas crianças; e, com uma
espécie de choque, percebeu que a senhorita Jenny estava ficando senil, e que até
aquele coração indômito começava afinal a se cansar. Era um choque, pois
jamais associara a senilidade à senhorita Jenny, tão sóbria, empertigada, ríspida,
intransigente e bondosa, cuidando da casa que não era dela e à qual fora
transplantada quando haviam sido violentamente arrancadas suas próprias raízes
forasteiras em um lugar remoto, onde os costumes e as maneiras e até o próprio
clima eram outros; conduzindo-a com incansável eficiência e contando apenas
com a ajuda de um velho negro alquebrado e tão irresponsável quanto uma
criança.
Mas cuidar da casa ela cuidava, tal como se o Bayard Velho e o jovem
Bayard lá estivessem. À noite, porém, quando se punham diante da lareira no
escritório, enquanto o ano avançava e o ar da noite voltava a soprar com o cheiro
forte das robínias e o canto dos sabiás e toda a renovada e atemporal malícia da
primavera, até mesmo a senhorita Jenny admitia que já não mais precisavam da
lareira; e quando nessa época ela conversava, Narcissa notou que não mais
falava de sua infância distante e de Jeb Stuart com sua faixa escarlate, seu cavalo
baio ajaezado e sua mandolina, mas sempre de uma época não mais longínqua
do que a infância de John e Bayard. Como se sua vida estivesse se encerrando,
não no futuro, mas desde o passado, como um carretel que era rebobinado.
Narcissa ficava sentada, outra vez serena por trás de seus baluartes
advertidos, escutando, admirando mais do que nunca aquele espírito indômito
que, nascido em corpo de mulher e tributário de um legado de homens
temerários e insensatos, aparentemente com o único propósito de cuidar deles até
que alcançassem seus fins precoces e violentos, e isso ao longo de um período da
história em que testemunhara irmãos e marido abatidos no mesmo desencontro
inútil dos assuntos humanos; em que vira, como em um pesadelo incapaz de ser
apagado, seja pela vigília seja pelo sono, arruinados os fundamentos de sua
existência, e tivera suas raízes literalmente arrancadas daquele solo onde seus
antepassados dormiam confiantes na integridade da humanidade — um período
no qual os próprios homens, a despeito de sua temeridade impetuosa e
desdenhosa, teriam se acovardado, teriam se tornado passivos se divisassem a
ruína que os aguardava. E ela pensou o quão mais requintada era aquela bravura
que jamais baixara a guarda diante de inimigos intangíveis por qualquer espada;
a firmeza resignada daquelas mulheres não celebradas (ai, não choradas,
também), mais do que o empolado e ocioso glamour dos homens que
obscureceram isso. “E agora ela tenta me tornar um deles; tenta fazer do meu
filho outro foguete destinado a brilhar por um instante no céu e aí se extinguir.”
Mas recuperou a serenidade, e seus dias cada vez mais se concentravam à
medida que se aproximava o momento, e a voz da senhorita Jenny já não era
mais do que um som, reconfortante mas desprovido de significado.
Toda semana recebia uma carta extravagante e galhardamente espirituosa de
Horace: também estas ela lia com calmo alheamento — aquilo que conseguia
decifrar, na verdade. Sempre achara a letra de Horace difícil de ler, e parte do
que conseguia entender não fazia para ela o menor sentido. Mas ela sabia que ele
já esperava tal coisa.
Então não havia mais como negar a chegada da primavera. Como todo ano,
começaram as discussões vernais entre a senhorita Jenny e Isom, que seguiam o
seu violento mas inócuo curso no jardim, sob a sua janela. Trouxeram do porão
os bulbos de tulipa e os plantaram, com a ajuda de Narcissa, cavoucaram outros
canteiros, descobriram as rosas e transplantaram jasmins. Narcissa foi de carro à
cidade, viu os primeiros junquilhos florescendo no gramado vazio, como se ela e
Horace ainda vivessem ali, e enviou a Horace uma caixa deles e, mais tarde, de
narcisos. Porém, quando floresceram os gladíolos, já não saía mais, exceto no
final da tarde ou início da noite, quando, acompanhada da senhorita Jenny,
passeava pelo jardim em meio à explosão de flores e botões e aos sabiás e aos
tordos atrasados, ali onde as aleias compridas tombavam relutantes as sombras
do crepúsculo, com a senhorita Jenny ainda falando de Johnny, confundindo o
morto e aquele prestes a nascer.
No início de junho, receberam outro pedido de dinheiro de Bayard, que
estava em São Francisco, onde afinal conseguira ser roubado. A senhorita Jenny
enviou o dinheiro. “Volte para casa”, disse-lhe no telegrama, sem nada contar a
Narcissa. “Agora ele vem”, comentou ela, “quero ver se não volta. Ao menos
para nos aporrinhar por um tempo.”
No entanto, uma semana depois não havia o menor sinal de Bayard, e a
senhorita Jenny mandou outro telegrama, para ser entregue na manhã seguinte.
Quando foi enviado, porém, ele já estava em Chicago, e quando a mensagem
chegou a São Francisco, ele estava entre saxofones, damas maquiadas e maridos
de meia-idade em uma mesa atulhada de copos sujos e manchada de cinzas de
cigarros e bebida derramada, em companhia de dois homens e uma jovem. Um
dos homens vestia uma jaqueta na qual se viam umas asas, a insígnia de piloto
militar. O outro era atarracado, com um enxovalhado paletó de sarja, têmporas
grisalhas e um olhar intenso e visionário. A jovem, uma figura esguia e
comprida, aparentemente quase toda pernas, com atrevidos lábios vermelhos e
olhos frios, trajava um vestido de noite elegante, e quando os outros dois homens
atravessaram a sala e se dirigiram a Bayard, ela tentava convencê-lo a beber, de
maneira insistente e pouco dissimulada.
Ela e o aviador dançaram juntos, e de tempos em tempos ela lançava um
olhar para Bayard, que bebia sem parar enquanto o homem enxovalhado lhe
dizia algo. Ela disse: “Tenho medo dele”.
O homem enxovalhado falava com excitação contida, usando dois
guardanapos dobrados no sentido do comprimento em faixas estreitas para
demonstrar algo, sua voz rouca e importuna em meio ao caótico pandemônio de
instrumentos de sopro e percussão. Por um tempo, Bayard havia prestado
alguma atenção, fitando o homem com olhos impassíveis, mas agora observava
algo ou alguém do outro lado da sala, enquanto o outro continuava a falar para o
vazio.
Ele bebia uísque e refrigerante sem parar, servindo-se de uma garrafa na
mesa. Sua mão continuava firme, e, espiando-o de longe, vez por outra a jovem
dizia ao seu parceiro: “Preciso falar disso, estou apavorada. Deus do céu, não
sabia o que fazer antes de você e seu amigo chegarem. Prometa que não vai
embora e nos deixar.”
“Você, apavorada?”, repetiu o aviador em tom de troça, mas também lançou
um olhar de esguelha ao rosto lívido e arrogante de Bayard. “Aposto que nada te
mete medo.”
“Você não tem ideia de como ele é”, retrucou a jovem, e ele tomou-lhe a mão
e puxou para si o corpo trêmulo, e embora o braço dele se retesasse e sua mão
descesse um pouco pelas costas dela, isso ocorreu sob a proteção da massa
dançante da qual faziam parte, e um tanto cautelosamente; então ele disse
rapidamente: “Vai com calma, querida; ele está olhando para cá. Dois anos atrás,
em um bar de Londres, eu o vi arrebentar dois dentes de um capitão australiano,
só porque este tentou falar com a moça com quem ele estava.” Eles se moveram
até que a orquestra ficou do outro lado do salão. “Do que você tem tanto medo?
Ele não é um bárbaro; não vai te fazer nada se você se comportar. Ele é legal.
Faz tempo que o conheço, de lugares em que a gente tinha de se virar, pode
acreditar.”
“Você não tem ideia”, repetiu ela. “Eu...”
A música parou com um estrondo; no silêncio repentino, a voz do homem
enxovalhado elevou-se de uma mesa próxima: “...consegui convencer um desses
malditos pilotos poltrões a...”
A voz então voltou a submergir em uma onda de ruído: vozes embriagadas e
risos femininos estridentes e cadeiras arrastadas, mas, ao se aproximarem da
mesa, o fulano enxovalhado ainda falava com gestos enfáticos e contidos,
enquanto Bayard fitava do outro lado do salão seja lá o que for que estava
observando, levando o copo regularmente aos lábios. A jovem agarrou o braço
de seu parceiro de dança.
“Você tem de me ajudar a fazer com que beba até cair”, suplicou ela
rapidamente. “Estou apavorada só de pensar em ir embora com ele.”
“O Sartoris, beber até cair? Ainda não nasceu quem é capaz disso. Volta pro
jardim de infância, querida.” Então, tocado pela sinceridade evidente dela, disse:
“Diz aí, o que foi que ele fez?”
“Não sei. Ele é capaz de qualquer coisa. Atirou uma garrafa vazia num
guarda de trânsito quando estávamos vindo para cá. Você tem...”
“Silêncio”, ordenou ele. O homem enxovalhado parou de falar e ergueu os
olhos com impaciência. Bayard continuava com o olhar voltado para o outro
lado do salão.
“Olha lá o meu cunhado”, disse ele, pronunciando lenta e cuidadosamente as
palavras. “Não fala mais com a família. Fulo da vida com a gente. Levaram a
mulher dele.” Eles se viraram e olharam.
“Onde?”, perguntou o aviador. Ele chamou um garçom. “Aqui, Jack.”
“Aquele com um diamante na gravata”, disse Bayard. “Fulano corajoso. Mas
não posso ir lá falar com ele. Pode me dar um soco. De qualquer modo, está com
uma amiga.”
O aviador voltou a olhar naquela direção. “Parece mais a avó dele”,
comentou. Voltou a chamar o garçom, e então disse para a jovem: “Mais um
coquetel?” Pegou a garrafa, encheu o copo, reabasteceu o de Bayard e virou-se
para o homem enxovalhado. “Onde está o seu?”
Impacientemente, o homem enxovalhado fez um gesto de que não queria
nada. “Veja aqui”, disse então, pegando de novo os guardanapos. “O diedro
aumenta conforme a pressão do ar. Graças à velocidade, até certo ponto, está
vendo? Agora, o que preciso descobrir...”
“Conta essa para os fuzileiros navais, companheiro”, interrompeu o aviador.
“Uns dois anos atrás ouvi dizer que tinham um aeroplano. Ei, garçom!” Bayard
agora observava com frieza o enxovalhado.
“Você não está bebendo”, comentou a jovem. E tocou no aviador sob a mesa.
“É verdade”, reconheceu Bayard. “Por que você não testa o caixão voador
dele, hein, Monaghan?”
“Eu?” O aviador pousou o copo na mesa. “Nem morto. Minha licença sai no
mês que vem.” Voltou a erguer o copo. “Um brinde de saideira”, disse, “e que
não reste nenhum gole.”
“Está bem”, disse Bayard, sem tocar no copo. Seu rosto estava pálido e
rígido, de novo uma máscara de metal.
“Garanto que não tem perigo nenhum; é só manter a velocidade abaixo de
um limite que vou dizer”, disse excitado o homem enxovalhado.
“Já testei as asas com pesos, comprovei a força ascensional e repassei todos
os cálculos; tudo o que você tem de...”
“Você não vai beber conosco?”, insistiu a jovem.
“Claro que vai”, disse o aviador. “Diga lá, lembra daquela noite em Amiens
quando aquele irlandês grandão e endemoninhado, o Comyn, destruiu o Cloche-
clos ao soar na porta o apito de alerta para minas?”
O fulano enxovalhado continuou alisando os guardanapos dobrados sobre a
mesa. Em seguida, recomeçou a falar, com a voz rouca e exasperada pela
intensidade de sua frustração: “Me matei de trabalhar, mendiguei e arrumei
empréstimos, e agora que tenho a máquina e um inspetor do governo não
consigo fazer um teste porque vocês, seus pilotos desgraçados e covardes, não
têm colhões pra voar. Uma força cheia de imprestáveis como vocês, recebendo
salário para voar e passando o tempo todo nos bares dos hotéis enchendo a cara.
E depois vocês que foram para o exterior ficam se vangloriando de sua coragem!
Não admira que os alemães...”
“Cala a boca”, disse-lhe Bayard impassível, num tom gélido e preciso.
“Você não está bebendo nada”, repetiu a jovem. “Não quer mais?”
Ela pegou o copo dele, encostou-o nos próprios lábios e o estendeu para
Bayard. Tomando-o, ele agarrou também a mão dela e a segurou firme. Mas de
novo estava olhando para o outro lado do salão.
“Não, cunhado, não”, disse, “mas ex-marido, ex-marido da mulher do irmão
da minha mulher. Ela tinha sido namorada do irmão da minha mulher. Agora
estão casados. Virou uma matrona. Ele tem sorte.”
“Do que você está falando?”, indagou o aviador. “Vamos lá, vamos beber.”
A jovem afastou-se dele até ficar com o braço estendido. Com a outra mão
ergueu o copo e sorriu-lhe com breve e aterrorizada faceirice.
Ele prendia seu pulso com os dedos duros, e enquanto ela o fitava de olhos
arregalados, ele a puxou firmemente em sua direção.
“Me solta”, murmurou ela. “Não faça isso.” Pousou então o copo e com a
mão livre tentou desapertar os dedos dele. O homem enxovalhado estava
remoendo algo diante dos guardanapos dobrados; o aviador entretinha-se
concentradamente com sua bebida. “Não faça isso”, murmurou de novo. Seu
corpo estava torcido na cadeira e teve de estender a mão rapidamente a fim de
evitar ser arrastada para fora, e por um momento ficaram se encarando — ela
com terror mudo e largo; ele impassível, seu semblante uma máscara gélida.
Então ele a soltou e empurrou para trás a própria cadeira.
“Ei, você, vamos lá”, disse ao homem enxovalhado. Tirou do bolso um maço
de notas e colocou uma ao lado dela sobre a mesa. “Com isso você chega em
casa”, disse. Ela ficou esfregando o pulso que ele havia segurado, observando-o
em silêncio. O aviador estava discretamente interessado no fundo de seu copo.
“Vamos embora”, repetiu Bayard para o homem enxovalhado, e este se levantou
e o seguiu.
Harry Mitchell estava em um pequeno reservado. Sua mesa também estava
coberta de garrafas e copos, e agora ele estava derreado na cadeira, os olhos
cerrados, a cabeça calva rebrilhando de transpiração sob uma luz elétrica. Ao
lado dele estava uma mulher que volveu a cabeça e fitou Bayard com desespero
flamejante e atormentado.
Atrás, em pé, um garçom com cabeça de monge e, quando Bayard passou
por lá, notou que o diamante sumira da gravata de Harry e entreouviu vozes
amargas e abafadas enquanto mãos se debatiam com algo na mesa por trás do
discreto anteparo de seus corpos.
Quando ele e seu companheiro chegaram à saída, a voz da mulher elevou-se,
furiosa, em um grito estridente e histérico, interrompido de repente, como se
alguém tivesse colocado a mão sobre a sua boca.
No dia seguinte, a senhorita Jenny foi de carro até a cidade e enviou-lhe
outro telegrama. Quando este foi transmitido, Bayard estava sentado na cabine
de um aeroplano, na pista do campo de aviação do governo em Dayton,
enquanto o homem enxovalhado corria de um lado para o outro de maneira
frenética, diante do olhar sobriamente neutro de um grupo de aviadores
militares. O aparelho tinha a mesma aparência de qualquer outro biplano, exceto
que não se viam cabos entre as asas, as quais eram mantidas em posição graças a
um sistema interno de cabos presos a molas; portanto, quando estava parado no
solo, o diedro era negativo. Segundo a teoria, quando estivesse em voo nivelado,
o diedro seria eliminado para se obter mais velocidade, e quando o aeroplano se
inclinasse de lado, a pressão lateral automaticamente aumentaria o diedro
favorecendo sua capacidade de manobra. A cabine do piloto ficava mais atrás do
aparelho, perto da cauda.
“Para que você possa ver as asas quando elas vergarem”, disse secamente o
homem que lhe emprestou o capacete e os óculos de proteção.
“São velhos”, acrescentou. Bayard lançou-lhe um olhar frio e sem humor.
“Olha aqui, Sartoris”, continuou o outro, “esqueça essa geringonça. Esses
fulanos aparecem aqui toda semana com algo pra revolucionar a aviação, com
alguma ratoeira nova que voa muito bem… mas só no papel. Se o oficial
responsável não designou nenhum piloto pra ele (e você sabe muito bem que
aqui a gente testa tudo que tenha motor), pode apostar que é uma fria.”
Bayard, no entanto, pegou o capacete e os óculos e saiu andando em direção
ao hangar. O grupo de pilotos o seguiu e ficou de lado em silêncio, com
expressões desoladas e moldadas pelo vento enquanto o motor era aquecido.
Mas quando Bayard se acomodou na cabine e ajustou os óculos, o homem que
os havia emprestado aproximou-se e colocou algo em seu colo. “Toma”, disse
bruscamente. “Leva isso.”
Era uma liga de mulher, que Bayard pegou e devolveu ao outro.
“Não vou precisar. Obrigado assim mesmo.”
“Está bem. Você sabe o que faz. Mas se deixar ele baixar o nariz, você vai
perder tudo e só vão sobrar as rodas.”
“Sei disso”, respondeu Bayard. “Vou manter ele nivelado.” O homem
enxovalhado aproximou-se correndo de novo, ainda falando.
“Sei, sei”, replicou Bayard com impaciência. “Você já disse isso tudo antes.
Contato.”
Um mecânico girou a hélice, e, enquanto o aparelho ia até o meio da pista, o
homem enxovalhado continuou a se agarrar à borda da carlinga, gritando algo.
Logo estava correndo para acompanhar o aeroplano, sem parar de gritar, e
Bayard tirou as mãos da fuselagem e abriu o acelerador. Quando chegou ao final
da pista e virou para o vento, o homem corria em sua direção e agitava os braços.
Bayard abriu o acelerador até o fim, o aparelho arremessou-se para a frente e, ao
passar pelo homem no meio da pista, a cauda estava alta e o aeroplano avançava
em longos saltos, e ele entreviu de passagem os braços agitados do homem e sua
boca aberta quando cessaram os saltos.
Do suporte em v até as pontas, ambas as asas se inclinaram e balançaram, e
ele manobrou o aparelho com cuidado, ganhando altura. Percebeu que havia um
ponto além do qual sua própria velocidade iria provavelmente eliminar sua
capacidade de sustentação.
Estava agora a cerca de seiscentos metros e deu uma guinada, descobrindo
que a pressão do aileron tornava completamente negativo o diedro interno do
aparelho, ao mesmo tempo que duplicava o externo, sofrendo a mais violenta
glissada que vira desde que enfrentara os boches. O aparelho não só glissava,
mas erguia a cauda como uma baleia em mergulho, e o indicador da velocidade
do ar saltou para quase cinquenta quilômetros além do limite recomendado pelo
inventor. Agora rumava de volta à pista, em um mergulho raso, e puxou o
manche.
As pontas das asas vergaram agudamente; ele empurrou o manche pouco
antes de elas serem completamente arrancadas e sabia que apenas a velocidade
do mergulho o impedia de cair como um guarda-chuva fechado. E a velocidade
só aumentava; já ultrapassara a pista, a menos de mil pés de altitude. Puxou de
novo o manche; de novo as pontas das asas vergaram; empurrou de volta o
manche e entrou mais uma vez em violenta glissada a fim de reduzir a
velocidade.
Novamente, o aparelho moveu a cauda em um arco ascendente, mas desta
vez as asas se soltaram e ele desviou a cabeça automaticamente quando uma
delas passou perigosamente ao lado, chocou-se contra a cauda e a destroçou.
3.
Naquele mesmo dia nasceu o filho de Narcissa e, no dia seguinte, Simon
levou a senhorita Jenny até a cidade e a deixou diante da agência do telégrafo,
mantendo sob controle, com um leve e dissimulado aperto das rédeas, os cavalos
que se agitavam inquietos, ao mesmo tempo que, sob a cartola e o volumoso
guarda-pó, ainda conseguia de algum modo se pavonear na boleia. E assim o
encontrou o doutor Peabody quando veio caminhando pela rua sob o sol de
junho, em seu desmazelado paletó de alpaca, carregando um jornal.
“Você está parecendo um sapo, Simon”, disse ele. “Onde está a senhorita
Jenny?”
“Sim, sinhô”, assentiu Simon, “sim, sinhô. Eles tão tudo contente e alegre
agora. O nhozinho chegou. Sim, sinhô, o nhozinho chegou e os tempo bom tão
de volta.”
“Onde está a senhorita Jenny?”, repetiu impaciente o doutor Peabody.
“Tá ali, telegrafando pro menino, pra ele voltar, já que aqui é o lugar dele.”
O doutor Peabody virou-se e Simon o observou, inconformado com a
indiferença do médico diante da notícia. “Foi como se nem tivesse ouvido”,
resmungou Simon em voz alta, com desdém irritado. “Num importa; agora é que
vocês vão ver. Sim sinhô, vão voltar os tempo bom outra vez, sim sinhô. Como
na época do nhô John, quando o coroné era o nhozinho e os nego da senzala
juntou tudo no gramado da frente, desejando saúde à sinhá e ao nhozinho.” Ele
observou o doutor Peabody cruzar a porta e, pela janela de vidro, viu quando ele
se aproximou da senhorita Jenny, que estava no balcão com sua mensagem.
“Volte para casa cretino e venha conhecer sua família ou vou fazer com que
te prendam”, dizia a mensagem em sua letra firme e nítida.
“Tem mais de dez palavras”, disse ao operador, “mas não importa. Agora ele
vem; pode tomar nota. Se não, vou mandar o delegado atrás dele, tão certo
quanto ele se chama Sartoris.”
“Sim, senhora”, disse o operador. Aparentemente não entendeu algo na
mensagem, ergueu os olhos por um instante e estava prestes a falar quando a
senhorita Jenny notou sua distração e repetiu rispidamente toda a mensagem.
“E pode deixar ela ainda mais enfática, se quiser”, acrescentou.
“Sim, senhora”, disse ele de novo, abaixando-se atrás de sua mesa, e logo em
seguida, com um pouco de curiosidade e impaciência, a senhorita Jenny
debruçou-se sobre o balcão com um dólar de prata na mão e o viu contando as
palavras por três vezes em uma espécie de perplexidade penosa.
“Qual é o problema, rapaz?”, indagou ela. “O governo agora proíbe que se
mencione uma criança recém-nascida nos telegramas?”
O operador ergueu os olhos. “Claro que não, senhora, está tudo certo”, disse
por fim, e ela lhe entregou a moeda, e enquanto ele a segurava na mão e a
senhorita Jenny o fitava com crescente impaciência, o doutor Peabody entrou e
tocou-lhe no braço.
“Vamos embora, Jenny”, disse.
“Bom dia”, disse ela, virando-se ao ouvir a voz dele. “Bem, já era tempo de
você aparecer. Esse é o primeiro Sartoris de cujo nascimento você soube apenas
no dia seguinte em quantos anos, Loosh? E assim que conseguir trazer aquele
cretino de volta para casa, vai ser como nos velhos tempos, como diz o Simon.”
“É, o Simon me contou. Venha para cá.”
“Deixe eu pegar o meu troco.” Ela se virou para o balcão, atrás do qual o
operador estava parado, com a mensagem numa das mãos e a moeda na outra.
“Bem, rapaz? Um dólar não é suficiente?”
“Sim, senhora”, repetiu ele, volvendo para o doutor Peabody seus olhos
estúpidos e distraídos. O doutor Peabody estendeu a mão gorducha e agarrou
tanto a mensagem como a moeda.
“Vamos embora, Jenny”, disse outra vez. Por um momento a senhorita Jenny
permaneceu imóvel, em seu vestido de seda preto e seu chapéu escuro plantado
na cabeça, fitando-o com seus perspicazes olhos idosos que viam tanto e tão
acertadamente. Então ela seguiu resolutamente até a porta, saiu para a rua e lá
ficou até que ele a alcançasse, e sua mão também estava firme ao segurar o
jornal dobrado que ele lhe estendeu. aviador do mississippi dizia em maiúsculas
discretas, e ela o devolveu de imediato e extraiu da cintura um lencinho diáfano
e o passou levemente pelos dedos.
“Nem preciso ler”, disse ela. “Eles nunca são mencionados no jornal de outra
forma. E sei bem que ele estava em algum lugar onde não devia estar, metido em
algum negócio que não era de sua conta.”
“Pois é”, disse o doutor Peabody. Ele a acompanhou até a carruagem e tocou-
a desajeitadamente com as mãos enquanto ela subia.
“Não toque em mim, Loosh”, disse irritada, “não sou aleijada.” Mas ele
segurou o cotovelo dela com sua manopla delicada até que ela estivesse
acomodada; em seguida ficou de cabeça descoberta enquanto Simon estendia a
coberta de linho sobre as pernas da senhorita Jenny.
“Ah, olhe”, disse ele, entregando-lhe o dólar de prata. Ela o devolveu à bolsa
e a fechou com um estalido e passou de novo o lencinho pelos dedos.
“Bem”, disse ela. E então: “Graças a Deus é o último deles. Por enquanto,
pelo menos. Vamos para casa, Simon”.
Simon estava sentado majestosamente, mas na ocasião desempertigou-se um
pouco. “Quando o sinhô vai visitá o nhôzinho, doutor?”
“Logo, Simon”, respondeu, e Simon estalou a língua, e os cavalos se
moveram com um floreio, seu chapéu inclinado e o chicote elegantemente
recolhido. O doutor Peabody ficou na calçada, a disforme cabeçorra masculina
sobre um desmazelado paletó de alpaca, o chapéu numa das mãos, o jornal
dobrado e a mensagem amarela não enviada na outra, até que as costas eretas e
esguias e o indômito ângulo reto do chapéu da senhorita Jenny saíram de seu
campo de visão.
Mas não havia sido o último. Uma semana depois, de manhã, Simon foi
encontrado em um barraco negro na cidade, sua cabeça encanecida esmagada
por um instrumento contundente manuseado por não se sabe quem.
“Na casa de quem?”, perguntou a senhorita Jenny ao telefone. Na casa de
uma mulher chamada Meloney Harris, informou-lhe a voz.
Meloney... Mel... O rosto de Belle Mitchell lampejou em seu espírito, e então
se lembrou: a jovem mulata cuja touca e avental elegantes, e coxas esguias e
reluzentes, conferiam tanta graça às recepções de Belle, cuja casa ela deixara
para abrir um salão de beleza. A senhorita Jenny agradeceu à voz e desligou.
“Velho safado”, disse ela, indo para o escritório do Bayard Velho, onde
sentou. “Então esse foi o destino do dinheiro da igreja que ele ‘aplicou’. Bem
que fiquei curiosa...” Ficou sentada rígida e inflexivelmente na cadeira, as mãos
pousadas no colo. “Bem, agora esse é mesmo o último deles”, pensou. Mas não,
não havia como ele ser um Sartoris: ele pelo menos tinha um resquício de bom
senso, ao passo que os outros... “Acho”, disse a senhorita Jenny, que não caíra de
cama nem um dia desde que completara quarenta anos, “que vou ficar doente por
um tempo.”
E foi exatamente o que fez. Recolheu-se ao leito, onde ficava encostada em
travesseiros com uma frívola touca de renda, e não aceitou receber a visita de
nenhum médico além do doutor Peabody, que foi uma vez vê-la informalmente e
ficou cordatamente sentado durante trinta minutos enquanto a senhorita Jenny
desabafava seu tédio de inválida e a raiva recorrente a respeito do fiasco do
unguento. E ali mesmo ela presidia a reuniões diárias com Isom e Elnora, e nos
momentos mais inesperados costumava berrar com impecável vigor para Isom e
Caspey no terreiro abaixo.
A criança e a plácida e jovial montanha de turbante que lhe supervisionava as
horas passavam grande parte do dia nesse quarto, e logo foram seguidas pela
própria Narcissa; então as três passavam horas arrebatadas e murmurantes em
uma espécie de orgia conjunta de abnegação, enquanto o objeto dessa admiração
dormia, fazia a digestão, despertava, era de novo alimentado e voltava a dormir.
“Não há dúvida de que é um Sartoris”, comentou a senhorita Jenny, “mas
uma versão melhorada. Não tem aquele olhar insano deles. Acho que foi o nome.
Bayard. Fizemos bem em chamá-lo de Johnny.”
“É verdade”, assentiu Narcissa, contemplando o filho adormecido com
serenidade calma e circunspecta.
E lá ficou a senhorita Jenny até se recuperar. Foram três semanas. Ela
marcou a data antes de se recolher ao leito e se prendeu a ela obstinadamente,
recusando-se até mesmo a se levantar e comparecer ao batismo. O dia em que
saiu da cama era um domingo. Foi no final de junho e o aroma dos jasmins
espalhava-se pela casa em ondas constantes.
Narcissa e a ama-seca, envergando um turbante ainda mais espalhafatoso,
haviam trazido o bebê em suas vestes cerimoniais, banhado, enfeitado e
perfumado, para que ela o visse, e ela ouviu quando saíram na carruagem, e
então a casa recobrou seu silêncio.
As cortinas balançavam tranquilamente nas janelas, todos os pacíficos
aromas estivais pairavam na brisa ensolarada, e os ruídos — passarinhos, um
sino domingueiro em alguma parte e a voz de Elnora, um pouco contida por
causa de sua recente perda mas ainda opulenta e melodiosa enquanto preparava o
jantar. Entoava uma melodia triste e interminável, sem palavras, enquanto
circulava pela cozinha, mas parou de imediato assim que se virou e viu à porta a
senhorita Jenny, com aparência ainda debilitada, mas vestida e empertigada
como sempre.
“Sinhá Jenny! Que é isso? Volta já pra cama. Deixa que ajudo a senhora.”
Mas a senhorita Jenny avançou sem titubear.
“Onde está o Isom?”, perguntou.
“Tá no estábulo. Sinhá tem que voltar pra cama. Olha que vou contar pra
sinhá Narcissa...”
“Me deixe em paz”, disse a senhorita Jenny. “Estou farta de ficar em casa.
Vou até a cidade. Chame o Isom.” A outra ainda protestou, mas a senhorita Jenny
insistiu ríspida, então Elnora foi até a porta e chamou Isom, voltou cheia de
presságios pessimistas, e logo depois entrou Isom.
“Tome isto”, disse a senhorita Jenny, entregando-lhe as chaves. “Tire o
carro.” Isom saiu e a senhorita Jenny seguiu atrás, mais lentamente. Elnora a
teria acompanhado, sombriamente solícita, mas a senhorita Jenny mandou que
voltasse para a cozinha. Atravessou o terreiro e acomodou-se ao lado de Isom.
“E você, dirija com cuidado essa coisa”, disse a ele, “ou eu mesma sento aí e
dirijo.”
Quando chegaram à cidade, das torres finas e pontiagudas que se elevavam
entre as árvores, de encontro às tufosas nuvens estivais, soavam langorosamente
os sinos. Na entrada da cidade, a senhorita Jenny pediu a Isom que entrasse por
uma travessa gramada; seguiram por ali e logo pararam diante dos portões de
ferro do cemitério. “Quero ver se cuidaram bem do Simon”, explicou. “Não vou
à igreja hoje; já fiquei fechada por tempo demais.” E só aquela perspectiva
infundiu-lhe uma ligeira excitação, como a de um menino gazeteando fora da
escola.
O local onde os negros eram enterrados ficava fora do cemitério
propriamente dito, e Isom a conduziu até a sepultura de Simon. A sociedade
funerária de que fazia parte tomara todas as providências para o seu enterro, e
após três semanas o túmulo ainda estava repleto de coroas, cujas flores haviam
caído, deixando um amontoado malcheiroso de caules e de estruturas de arame
que enferrujavam pacificamente. Elnora, ou alguma outra pessoa, ali estivera
antes, e a sepultura estava bordejada por tediosas fileiras de cacos berrantes de
louça e de vidro colorido. “Acho que vamos ter de fazer uma lápide para ele
também”, disse em voz alta a senhorita Jenny e, ao se voltar, viu Isom trepando
com seu macacão em uma árvore em torno da qual dois tordos voejavam e
piavam agressivamente em círculos. “Ei, Isom.”
“Sinhá?” Isom saltou obedientemente para o chão e os pássaros o ameaçaram
com uma derradeira rajada de impropérios histéricos. Aí seguiram até a área do
cemitério onde estavam sepultados os brancos e caminharam entre formas
marmóreas inscritas com nomes que ela conhecia bem, e datas entalhadas com
nítida e calma singeleza em pedra inexpugnável. Aqui e ali eram sobrepujados
por urnas e pombas simbólicas, e rodeados por gramados aparados e bem
cuidados, recortando-se contra os mármores esbranquiçados, o azul salpicado do
céu e os cedros escuros no meio dos quais arrulhavam pombos, incessantemente
reiterativos. Aqui e ali flores reluzentes e viçosas surgiam em rajadas aleatórias
sobre o fundo branco e verde, e logo adiante John Sartoris assomava com suas
costas pétreas e seu gesto excessivo no meio de um grupo de cedros além do
qual o terreno descia íngreme para o vale.
A sepultura de Bayard também era uma massa disforme de flores murchas, e
a senhorita Jenny fez com que Isom limpasse aquilo e as tirasse dali. Os
pedreiros estavam se preparando para cercá-la de tijolos, e a própria lápide
estava ao lado, protegida por uma lona. Ela ergueu a lona e leu a inscrição
recente e nítida:
BAYARD SARTORIS
16 de março de 1893–11 de junho de 1920
Assim era melhor. Simples: já não havia mais nenhum Sartoris para inventar
algo empolado para gravar ali. Não conseguem nem mesmo ficar mortos e
enterrados sem se pavonear e se vangloriar.
Ao lado da sepultura havia outra idêntica, exceto pela inscrição. Mas o toque
dos Sartoris estava presente, a despeito do fato de não haver sepultura para
acompanhá-la; e a coisa toda era como uma voz jactanciosa em uma igreja vazia.
Porém, além disso, havia algo mais, como se o espírito folgazão e indomável
dele, que tanto havia zombado de seu legado de presunção empolada, tivesse
conseguido de algum modo, mesmo com seus ossos jacentes em uma cova
anônima no outro lado do oceano, amenizar o gesto arrogante com que se
haviam despedido dele:
TENENTE JOHN SARTORIS, R.A.F.
Morto em ação de guerra, 19 de julho de 1918
“Coloquei-o sobre as asas da águia e o trouxe até Mim”
Uma leve brisa sussurrava nos cedros como um longo suspiro, no qual se
moviam gravemente os galhos. Através da tranquilidade espaçosa dos blocos de
mármore os pombos arrulhavam com intermináveis inflexões ascendentes. Isom
voltou para buscar outra braçada de flores murchas e as levou embora.
A lápide do Bayard Velho também era simples, tendo nascido, como fora o
seu caso, tarde demais para uma guerra e cedo demais para a guerra seguinte, e
ocorreu a ela que Eles haviam pregado uma peça nele — recusando-lhe a
oportunidade de aventuras e depois negando-lhe o privilégio de ser enterrado por
homens, os quais teriam inventado algum motivo de vanglória. Os cedros já
haviam quase obscurecido os túmulos do filho dele, John, e da mulher deste. Os
raios do sol os alcançavam apenas intermitentemente, matizando a pedra gasta
com manchas irregulares; só com dificuldade a inscrição podia ser decifrada.
Mas ela sabia qual seria, sabia que o contágio, a inspiração e o exemplo
daquele que os dominara a todos, que conferiu a todo o lugar, no qual pessoas
exaustas supostamente descansavam em paz, uma solenidade pomposa que tanto
tinha a ver com a mortalidade quanto as encadernações dos livros com os seus
personagens, e sob a qual as lápides das esposas a quem haviam arrastado para
suas órbitas arrogantes eram, a despeito de suas empoladas referências
genealógicas, modestas e recatadas como o canto dos tordos sob o ninho de uma
águia.
Ele erguia-se sobre um pedestal de pedra, de sobrecasaca e cabeça
descoberta, uma perna ligeiramente à frente e uma das mãos pousada levemente
sobre o pilono de pedra ao lado. Sua cabeça estava um tanto alçada naquele
gesto de orgulho altivo que se repetiu geração após geração com fatídica
fidelidade, de costas para o mundo, e com os olhos entalhados fitando o vale
atravessado pelos trilhos de sua ferrovia e, mais adiante, os morros azulados e
imutáveis e, mais além ainda, os baluartes da própria infinitude. O pedestal e a
efígie haviam sido fustigados por estações de chuva e sol e pelo gotejar dos
galhos dos cedros, e o entalhe incisivo das letras estava coberto de musgo, mas
ainda assim continuava legível:
CORONEL JOHN SARTORIS, C.S.A.
1823–1876
Soldado, Estadista, Cidadão do Mundo
Para o esclarecimento do homem ele viveu
Pela ingratidão do homem ele morreu
Detenha-se aqui, filho da dor; lembre-se da morte.
Morto em combate, 5 de julho de 1918
“Coloquei-o sobre as asas da águia e o trouxe até Mim”
Essa inscrição havia provocado certo furor na família do assassino, que
chegou a lavrar um protesto formal. Mesmo cedendo à opinião geral, porém, o
Bayard Velho tivera sua vingança: fez com que a linha “Pela ingratidão do
homem ele morreu” fosse grosseiramente apagada, e acrescentou embaixo:
“Abatido pela mão de ... Redlaw, 4 de setembro de 1876”.
A senhorita Jenny ficou ali em pé, contemplativa, uma figura esbelta e ereta,
vestida de seda preta e com um pequeno e intransigente chapéu preto. O vento
soprava entre os cedros com longos suspiros e, com pulsações ritmadas, a
reiteração desesperançada dos pombos pairava no ar ensolarado. Isom voltou
para buscar a derradeira braçada de flores mortas e, olhando para além das
extensões de mármore onde se moviam as sombras do meio-dia, ela observou
um punhado de crianças que brincavam quietas e um pouco rígidas, com vistosas
roupas domingueiras, entre os mortos tranquilos. Bem, era o último deles, por
fim, reunido em solene conclave em volta da reverberação agonizante de seus
desejos arrogantes, seus restos pulverulentos embolorando silenciosamente sob
os símbolos pagãos de sua vaidade e dos gestos que a caracterizavam, ali
esculpidos em pedra duradoura; e recordou de algo que certa vez Narcissa lhe
dissera, a respeito de um mundo sem homens, e perguntou-se se talvez ali
haveria alamedas pacíficas e edificações colmadas de silêncio, mas não
encontrou resposta.
Isom retornou e, ao se afastarem, o doutor Peabody a chamou. Estava vestido
como de hábito, com amarfanhadas calças de casimira, o luzidio paletó de alpaca
e o chapéu-panamá mole, e vinha acompanhado do filho.
“Ora, meu rapaz”, disse a senhorita Jenny, estendendo a mão para o jovem
Loosh. O rosto dele era ossudo e irregular. Tinha uma cabeleira de fios duros e
eriçados, os olhos castanhos eram firmes e a boca, grande, e do seu rosto feio
emanava um ar de confiabilidade, afabilidade e bom humor. Ele era magro e
ossudo e envergava as roupas com deselegância, e com aquelas mãos grandes e
ossudas realizava delicadas operações cirúrgicas com a destreza de um caçador
esfolando um esquilo e com a celeridade de um prestidigitador. Vivia em Nova
York, onde trabalhava com um cirurgião de renome, e uma vez por ano, às vezes
duas, enfrentava as trinta e seis horas de trem, ficava vinte horas com o pai (que
preenchiam com caminhadas pela cidade ou passeios de dia todo pelo campo na
carroça bamboleante, ou então com conversas, sentados na varanda ou diante da
lareira noite adentro), tomava de novo o trem e, noventa e duas horas depois,
estava de volta à sua clínica. Tinha trinta anos, o único filho da mulher que o
doutor Peabody havia cortejado durante catorze anos até que pudessem se casar.
O namoro foi na época em que ele medicava e amputava o condado todo com
sua carroça; muitas vezes, após um ano de separação, ele percorria sessenta e
cinco quilômetros para revê-la, mas no caminho era interceptado e convencido a
ver uma criança acamada ou um membro destroçado, restando-lhe apenas
rabiscar uma mensagem para amenizar o intervalo de outro ano. “Está de volta
ao lar, é isso?”, perguntou a senhorita Jenny.
“Sim, senhora. E vejo que a senhora está lépida e bela como sempre.”
“Com o humor terrível que ela tem, Jenny vai acabar secando e mirrando”,
comentou o doutor Peabody.
“Não esqueça que jamais permiti que você cuidasse de mim quando não
estava bem”, retorquiu ela. “Imagino que você vá voltar correndo no próximo
trem, não é?”, perguntou ela ao jovem Loosh.
“É verdade, infelizmente. Ainda não chegaram as minhas férias.”
“Bem, nesse ritmo você vai passá-las em um asilo de velhos em alguma
parte. Por que vocês não vêm e almoçam conosco, de modo que ele veja o
menino?”
“Teria muito prazer”, respondeu o jovem Loosh, “mas como não tenho
tempo para fazer tudo o que gostaria, decidi simplesmente não fazer nada. Além
disso, combinei de passar a tarde pescando”, acrescentou.
“É”, intrometeu-se o pai, “e retalhando com o canivete peixes excelentes só
pra ver como são por dentro. Veja só o que ele fez hoje de manhã: ele pegou
aquele cachorro que levou um tiro do Abe no último inverno, abriu a perna dele
e desemaranhou os ligamentos com tanta rapidez que não só o Abe não entendeu
nada do que ele estava fazendo, como até o próprio cão não percebeu nada até
que era tarde demais para berrar. Você só se esqueceu de escavar um pouco mais
para ver se achava a alma dele”, acrescentou para o filho.
“O senhor não sabe se ele não tem alma”, comentou o jovem Loosh
impassível. “O doutor Straud vem fazendo experiências com a eletricidade, e
segundo ele a alma...”
“Bobagem”, a senhorita Jenny o interrompeu. “Loosh, é melhor você
arrumar um jarro cheio do unguento do Will Falls para ele mostrar a esse tal
médico... Bem”, ela olhou para o sol, “já vou indo. Se você mudar de ideia
quanto ao almoço...”
“Muito obrigado, senhora”, respondeu o jovem Loosh.
Então o pai disse: “Eu o trouxe para mostrar aquela coleção sua. Não tinha
ideia de que estávamos com cara de esfomeados.”
“Fiquem à vontade”, respondeu a senhorita Jenny. Ela partiu e eles ficaram
ali a contemplar suas costas eretas até ela desaparecer por entre os cedros.
“E agora tem mais um deles”, comentou o jovem Loosh, pensativo.
“Mais um que vai crescer e manter os parentes sobressaltados até que
finalmente consiga fazer aquilo que todos esperam que faça. Bem, talvez aquele
sangue Benbow vá deixá-lo mais contido. É um pessoal tranquilo, o daquela
garota; e Horace é uma espécie de... e todas essas mulheres para criá-lo...”
Seu pai grunhiu. “Ele também tem sangue Sartoris.”
Quando a senhorita Jenny chegou em casa com aparência abatida, Narcissa a
censurou e conseguiu que ela se deitasse depois do almoço. E ela ficou
dormitando enquanto a tarde se esvaía, despertando com as sombras cada vez
mais longas e o som de teclas de piano suavemente tocadas lá embaixo. “Dormi
a tarde toda”, disse para si mesma, um tanto consternada; mas ainda permaneceu
deitada um pouco mais enquanto as cortinas mexiam-se ligeiramente nas janelas
e o som do piano subia mesclado ao aroma do jasmineiro no jardim e aos cantos
vespertinos dos pardais nas amoreiras do quintal. Ela se levantou, atravessou o
corredor e entrou no quarto de Narcissa, onde o bebê dormia no berço. Ao lado,
a ama dormitava placidamente. A senhorita Jenny saiu na ponta dos pés, desceu
a escada, entrou na sala de estar e puxou a cadeira que estava atrás do piano.
Narcissa parou de tocar.
“A senhora descansou?”, perguntou ela. “Não deveria ter saído hoje de
manhã.”
“Besteira”, retrucou a senhorita Jenny. “Sempre me faz bem ver todos
aqueles homens tolos e metidos enterrados lá com suas coisas e inscrições de
mármore. Graças a Deus, nenhum deles vai fazer o mesmo comigo. Acho que o
Senhor sabe o que faz, mas tenho de dizer que, às vezes... Toque alguma coisa.”
Narcissa obedeceu, afagando suavemente as teclas, e a senhorita Jenny
quedou-se ali a ouvir. O crepúsculo avançava sutilmente; as sombras na sala
tornavam-se cada vez mais palpáveis. Lá fora os pardais chilreavam em nuvens
estridentes. Desde o jardim, o cheiro de jasmim chegava a elas com a
regularidade de uma respiração, e logo em seguida a senhorita Jenny ficou em pé
e começou a falar do bebê. Narcissa continuou a tocar baixinho, seu vestido
branco com uma faixa preta na cintura vagamente reluzente no lusco-fusco, com
um brilho opaco de cera. O jasmineiro emitia ondas de aroma; os pardais agora
estavam mudos, e a senhorita Jenny falava no crepúsculo sobre o pequeno
Johnny enquanto Narcissa tocava absorta e desatenta, como se não estivesse
ouvindo. Então, sem parar de tocar e sem volver a cabeça, ela disse: “Não é John
o nome dele. É Benbow Sartoris.”
“O quê?”
“O nome dele é Benbow Sartoris”, repetiu ela.
A senhorita Jenny ficou imóvel por um instante. No aposento ao lado, Elnora
movia-se de um lado para o outro, pondo a mesa para o jantar.
“E você acha que isso vai fazer alguma diferença?”, indagou a senhorita
Jenny. “Você acha que pode mudar algum deles com um nome?”
A música continuou suavemente no crepúsculo; um crepúsculo povoado de
espectros de coisas antigas, fascinantes e desastrosas. E se fossem
suficientemente fascinantes, certamente teriam a participação de um Sartoris, e
aí certamente seriam desastrosas. Peões. Mas o Jogador, e o jogo que Ele joga...
Contudo, Ele deve ter um nome para os Seus peões. Mas talvez Sartoris seja o
próprio jogo — um jogo antiquado, jogado com peões moldados tarde demais de
acordo com um padrão antigo e decrépito, e do qual o Próprio Jogador já está um
tanto cansado. Pois há morte no som dele, e uma fatalidade fascinante, como
pendões prateados desfilando ao pôr do sol, ou a cadência agonizante das
trombetas no caminho para Roncevaux.
“Você acredita”, repetiu a senhorita Jenny, “que só por que recebeu o nome
de Benbow ele não vai ser tanto um Sartoris e um estouvado e um tolo?”
Narcissa continuou a tocar como se não estivesse ouvindo. Em seguida
volveu a cabeça e, sem interromper suas mãos, sorriu calmamente para a
senhorita Jenny, um pouco sonhadoramente, com um alheamento sereno e
cálido. Atrás da cabeça aprumada e ensombrecida da senhorita Jenny, as cortinas
rutilantes pendiam imóveis; e, além da janela, a noite era um sonho sem brisa e lilás, mãe da quietude e da paz.
William Faulkner
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















